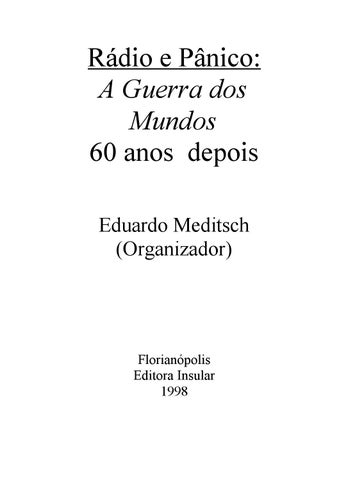Rádio e Pânico: A Guerra dos Mundos 60 anos depois Eduardo Meditsch (Organizador)
Florianópolis Editora Insular 1998
Apresentação
Um esforço coletivo de entender o rádio Ninguém duvida da importância do rádio hoje na sociedade brasileira, nem de sua capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, de criar novos hábitos de consumo e de atender a demandas simbólicas por lazer, entretenimento, informação e companhia. Mas nem por isso o rádio é objeto de estudo freqüente entre os pesquisadores de comunicação no Brasil. Poucas são os estudos existentes, e menor ainda o número de textos publicados. Esse quadro começou a mudar paulatinamente desde a criação do Grupo
de
Trabalho
Rádio
na
Sociedade
Brasileira
de
Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), em 1991. Os 70 trabalhos apresentados no GT em sete anos de atuação indicam um interesse crescente em estudar o meio por parte de pesquisadores, profissionais, professores, além de estudantes de pós-graduação em comunicação. O GT cumpre hoje um
papel importante na divulgação da produção nacional sobre rádio,
constituindo-se num espaço de referência para reflexão e crítica do veículo em suas reuniões anuais, como também de estímulo ao diálogo interdisciplinar e a troca de idéias entre estudiosos. A produção dos pesquisadores no seu conjunto reflete a diversidade de temas inerentes a especificidade do veículo dado a sua natureza, poder, influência e as inúmeras interfaces e mediações que estabelece com a sociedade. Também aponta tendências da pesquisa na área e revela as múltiplas temáticas desse meio de comunicação de massa. Os pesquisadores estão preocupados em fazer estudos críticos da história do rádio e das práticas profissionais, bem como evidenciar as
relações de poder estabelecidas a partir do veículo, suas ressonâncias sociais e inserções na sociedade. Apontam problemas e espeficidades do meio nas várias regiões do país, como também retratam o rádio nacional de forma panorâmica e abrangente. O lançamento desse livro comemorativo dos 60 anos da histórica emissão do programa radiofônico The War of the Worlds realizado por Orson Welles é mais uma prova do entusiasmo e interesse dos pesquisadores em refletir sobre o rádio. A coletânea de textos aqui apresentada
traz
contribuições significativas para a compreensão desse marco na história do rádio e da própria comunicação de massa. Considerando que até hoje nada foi publicado no Brasil a respeito desse fenômeno, esse livro vem preencher mais uma das inúmeras lacunas nos estudos sobre o veículo. O essencial é registrar que essa contribuição dos pesquisadores do GT Rádio para a construção do conhecimento sobre o veículo reflete o esforço, a dedicação e, principalmente, a paixão que todos têm pelo rádio.
Nélia R. Del Bianco Coordenadora do GT Rádio da Intercom
Introdução
Um velho fascínio que não era só meu Se você quiser animar uma conversa com profissionais de rádio, jornalistas, publicitários, professores ou estudantes de comunicação, cite A Guerra dos Mundos de Orson Welles. A curiosidade e o fascínio despertados pelo tema fazem o resto. Esta foi uma das lições que aprendi em 23 anos de convívio profissional, e que confirmei mais uma vez ao propor o tema deste livro para uma inédita pesquisa coletiva no âmbito do Grupo de Rádio da Intercom. A proposta recebeu a adesão imediata de praticamente todos os presentes na reunião do GT durante o Congresso da Intercom realizado em setembro de 1997 em Santos. Sua divulgação atraiu ainda novos participantes de peso para o grupo e - o mais incrível - o resultado está aí nas suas mãos, num tempo recorde para os padrões acadêmicos. De setembro a dezembro de 97, foram acertados os assuntos que seriam explorados por cada um dos co-autores do livro, distribuídas cópias da gravação original do programa aos participantes e também as escassas referências bibliográficas a que se tinha acesso naquele momento no Brasil. Entre janeiro e maio de 98, houve um intenso intercâmbio de informações e de material entre os autores e cada um produziu o seu artigo. Obviamente, não faltaram percalços, mas a maior parte deles foi superada com êxito. Apenas quatro, dos 21 participantes previstos originalmente, não conseguiram chegar ao final, por razões justificadas. Entre os 17 autores que atingiram o objetivo, muitos interromperam a produção de teses, dissertações, pesquisas e de outros livros individuais, para não perder A Guerra dos Mundos, ainda que 60 anos depois. Ao esforço destes autores somou-se o da Associação dos Artistas da Era de Ouro do Rádio de Pernambuco, que sob a liderança de Luiz Maranhão Filho produziu a versão brasileira do programa, gravada no CD que acompanha o livro, possibilitando aos leitores reviver a experiência rara de sua audição. A Guerra dos Mundos se tornou um mito, também pelo fato de ser um programa mais comentado do que propriamente ouvido. Apenas recentemente, na onda da globalização, é que as cópias da gravação original em inglês se popularizaram entre nós, e mesmo assim constata-se ainda hoje que a maior parte dos profissionais da área, tanto quanto os professores e os estudantes de comunicação, ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o programa. O livro foi dividido em quatro partes. Na primeira parte estão reunidos seis textos que analisam A Guerra dos Mundos a partir dos recursos técnicos
e de linguagem utilizados em sua produção. Nestes textos se explora a relação do rádio com a ficção científica (Sérgio Endler), as soluções encontradas na elaboração coletiva do roteiro (Eduardo Meditsch), a expressividade do uso da voz (Adriana Duval), do silêncio (Ana Baumworcel), da música (Hugo Vela) e dos efeitos sonoros (Carlos Eduardo Esch e Nélia Del Bianco). Na segunda parte do livro é recuperado o contexto da irradiação do programa nos Estados Unidos de 1938. São analisados o poder de mobilização política do rádio de então (Dóris Haussen), a tensão vivida pela população norte-americana à beira da Segunda Guerra Mundial (Luiz Carlos Saroldi), a importância do rádio na vida americana dos anos 30 (Sônia Virgínia Moreira), o rádio no Brasil naquela época (Valério Brittos) e como os intelectuais encaravam o meio de comunicação de massa (Valci Zuculoto). Na terceira parte, se analisa o legado de A Guerra dos Mundos, passados estes 60 anos. A experiência de Orson Welles serviu para que se conhecesse e se passasse a utilizar conscientemente muito do potencial do rádio (Gisela Ortriwano), influenciou também outros meios de comunicação, como o cinema (Luiz Maranhão Filho), interessou a comunidade científica pelo fenômeno da recepção da mídia (Mágda Cunha) e levanta questionamentos sobre a qualidade do radiojornalismo praticado hoje (Romário Schettino) e sobre a possibilidade de um Primeiro de Abril através da Internet nesta virada de milênio (João Batista de Abreu Jr.). Na quarta parte do livro, é apresentada a tradução brasileira do roteiro radiofônico de A Guerra dos Mundos, na íntegra. O resultado deste esforço coletivo demonstra que o fascínio não era só meu: a honra também não deverá ser. Organizar este livro, com o corpo de colaboradores que reuniu, foi um raro privilégio. À leitora e ao leitor cabe analisar se a tarefa foi bem realizada. Eduardo Meditsch Organizador
Parte I: A TĂŠcnica
1. De Wells a Welles: rádio e ficção científica O escritor inglês H.G. Wells e seu romance A Guerra dos Mundos tiveram um papel fundamental na constituição do gênero ficção científica na literatura. No rádio, a estória ganha força dramática com a incorporação da oralidade e a mimetização do próprio veículo pela equipe dirigida por Orson Welles.
por Sérgio Endler Jornalista, Mestre em Literatura e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Trabalhou em vários jornais e emissoras de rádio do Rio Grande do Sul.
Historicamente, é atribuída a Júlio Verne (1828-1905) uma afirmação, no mínimo, muito curiosa para um escritor. “Ele mente”, teria enunciado em comentário o autor francês após a leitura de uma das obras escritas pelo inglês Herbert George Wells (1866-1946). Outro comentarista 1 refere-se, ainda, à famosa frase em termos diferentes. “Ele inventa”, teria sido a afirmação de um Verne algo perturbado. (Já a obra em questão seria O primeiro homem na lua, publicada por Wells em 1901). Ora, é bastante curioso que um escritor faça referência à obra de um outro naqueles termos. Na realidade, já ancião, o angustiado Júlio Verne pressente a estatura maior representada por Wells, nome que vem para dividir a autoria e a glória do pioneirismo na ficção científica moderna. Desde a sua estréia, com A máquina do tempo, em 1895, Wells encontra sucesso junto ao público e à crítica. Os especialistas e escritores, não raro, erguem comparações entre Verne e Wells, estabelecendo vantagens freqüentes para o último. Oscar Wilde, por exemplo, afirma que Wells é um Verne científico. Já na opinião do argentino Jorge Luís Borges, Wells é um admirável narrador, um herdeiro das concisões de Swift e Edgar A. Poe. Segundo Borges, Verne não passa de um jornalista laborioso e risonho que escreve para adolescentes. Wells, conclui Borges, escreve para todas as idades do homem.2 Ernesto Sábato ressalta que o inglês escreve a literatura fantástica da Revolução Industrial.3 De fato, no conjunto da obra deste precursor da moderna ficção científica, existe a recorrência ao fantástico, traduzida na aparição de naves espaciais e seres de outros planetas, em entrechos repletos de suspense e magia. Nos enredos, a aparição de aspectos pontuais da realidade serve como artifício para garantir a verossimilhança e a atmosfera realista necessária ao jogo ficcional. Já a literatura de antecipação garante-se, em Wells, também pelo estabelecimento de cenários onde perfilam-se os meios de comunicação de massa (como fonógrafos, rádios, telas) lado a lado com invenções e ameaças futuristas inusitadas. Em Wells, os elementos fantásticos funcionam como verdadeiros arautos da crítica à ciência positiva. Ali, para o narrador, os graves problemas sociais modernos não estão resolvidos pelo progresso da ciência. E, para que a realidade injusta altere-se, é necessário o aparecimento de forças externas, extras, extra-ordinárias. Se o autor-empírico Wells, real e histórico, é considerado um cidadão pacifista, humanista, progressista e socialista, logo, algumas destas qualidades devem estar presentes no narrador correspondente de A Guerra dos Mundos. É neste endereçamento rumo ao extra-ordinário, para ultrapassagem do cotidiano pueril e injusto, que Wells constrói/reconstrói em narrativa o mito. O mito enquanto recriação de mundo, narração do mundo, reinvenção narrada de tudo. Ali, a estratégia narrativa é jogar para fora, buscar a catarse,
mesmo que através da catástrofe, ação perniciosa e dolorosa, como são as mortes em cena, as dores veementes, conforme definição clássica.4 Há um século, Wells publicava a mais famosa, a mais copiada e a mais referida novela sobre invasores marcianos. Na obra, a Terra é colonizada após exauridos os recursos de sobrevivência em Marte. A destruição tem início na pequena cidade inglesa de Woking (Wells aloca o primeiro ataque em cenário visto dos fundos da sua casa). Logo, Londres é destruída e, a seguir, todo o planeta. Os invasores constróem torres de guerra com trinta metros de altura e atacam com raios térmicos. São semelhantes a polvos, possuem tentáculos, olhos esbugalhados e um bico frontal. Mas, sobretudo, são indestrutíveis. Os invasores são, ainda, verdadeiros vampiros de homens, aos quais aprisionam. No enredo, Wells refere-se a milhões de seres humanos desesperados, errantes. Uma fuga cega, um estouro de boiada, sem organização nem destino. Seis milhões de pessoas em marcha, sem armas nem provisões, nem alvo: o começo do fim para a humanidade e para a civilização.5 Sombrio, o narrador constata: estamos no começo da evolução, cujo fim os marcianos já atingiram. Mas, quando tudo é desolação e destruição, a máquina de guerra marciana começa a ruir. Sem anticorpos contra doenças, os marcianos morrem atacados por bactérias. Quatro décadas após a aparição da obra original, em livro, Orson Welles (1915-1985) torna célebre A guerra dos mundos em radiofonização pela CBS. Da Europa, Wells escreve desgostoso, acusa Welles por má utilização da obra, com finalidades diversas da original. De fato e, necessariamente, a radiofonização de Welles apresenta e compõe uma outra obra. Mas, a “culpa” não é tão somente do diretor. As mudanças são estruturais e envolvem outros nomes. Pouco ou nada é atribuído a Howard Koch, roteirista, e Paul Stewart 6, produtor do espetáculo. Mas, na verdade, quanto existe da técnica e da arte de ambos no produto final daquela novela radiofonizada? Sem dúvida, Wells poderia contra eles, também, bradar. Mas, a grande novidade mesmo desta nova versão da novela de Wells é a formatação dela em novo médium e, logo, o jornalismo ficcionalizado ao longo de todo o enredo. De fato, rompendo com o trido autor-obra-leitor, o rádio instaura-se como novo suporte técnico, possibilitando inédita riqueza formal para a obra. Assim, o rádio é responsável pelo incremento da forma, dotando a narrativa inicial de uma oralidade que reforça o mito e oportuniza ao enredo novos sons e silêncios.
Não apenas a manipulação do rádio, com seu novo código e gramática próprios, redimensiona a obra de Wells. Em termos discursivos, a versão de Welles-Koch-Stewart é também inventiva ao mimetizar o próprio rádio. Logo, o modelo “música e notícia” trivial serve de elemento dramático importante, estabelecendo-se ali uma metanarrativa. Dentro deste novo pacto radiofônico estipulado por um narrador coletivo, a polifonia de vozes atinge e envolve o ouvinte, chamando pela participação imaginária, como nos espaços de indefinição criados semanticamente. Com isso, o pré-sentido estabelecido pelo texto completase na audição. No radiojornal mimetizado em A Guerra dos Mundos, tem voz o discurso científico, o discurso militar, o discurso político e, até mesmo, o popular, além do jornalístico propriamente dito. Os discursos verossímeis garantem a atmosfera de realidade. Mas, paradoxalmente, eles estão a serviço do fantástico, da instauração do desconhecido. E este logo gera a tensão, também pelo aparecimento do novo e da ameaça. A peça, que mimeticamente recria a onipotência e a onisciência da própria mídia, reordena os signos e realiza-se como linguagem comunicativa. Sobre os objetos, construídos discursivamente, desdobra-se a metalinguagem. E, já, no interior desta ficção, onde o narrador-coletivo é um demiurgo, também o ouvinte quase tudo sabe e quase tudo “vê”. Mesmo sob pânico. Nas articulações de clímax e anticlímax, nas alternâncias de tensão e relaxamento, a peça estrutura-se representando ações. Como numa tragédia grega, a radiofonização do drama baseia-se numa imitação (imita-se mimeticamente o mundo pela linguagem, que deve ser verossímel). Com A Guerra dos Mundos, em 1938, a ágora grega transporta-se no tempo e no espaço. Questões primordiais como a criação e a destruição, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso - estruturados em pares dialéticos perfeitos – são revisitadas em encenação. Mas, como ironicamente sublinha o texto lido por Welles ao final da peça, realimentando o pacto radiofônico voz-ouvinte, após “aniquilar o mundo” e “destruir a CBS”, o invasor pode bem ser, apenas, uma máscara feita numa abóbora oca, porque é Halloween. Isto é, a vida não é, inteiramente, uma tragédia. Mas é, sempre, teatro. Bibliografia 1. SSO, Ernani. Nós somos os marcianos. In: ____ et alii. Os preferidos do público – os gêneros da literatura de massa. Petrópolis : Vozes, 1987. 2. BORGES, Jorge Luis. O primeiro Wells. In: Wells, H.G. A máquina do tempo. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1981. 3. SÁBATO, Ernesto. Obras II, Ensayos. Buenos Aires : Losada, 1970.
4. ARISTÓTELES. Poética. São Paulo : Abril, 1973 (Os pensadores). 5. Folha de São Paulo, Caderno Mais, p. 15, 29 mar. 1998. 6. LEAMING, Barbara. Orsan Welles, uma biografia. Porto Alegre : L&PM Editores, 1987.
2. O pecado original da mídia: o roteiro de A Guerra dos Mundos A concepção do programa A Guerra dos Mundos foi uma obra coletiva e está expressa no roteiro assinado por Howard Koch. Ao colocar o rádio como protagonista da estória, dissolver a fronteira entre ficção e realidade e eleger a espetacularização como valor supremo, a equipe comete um pecado que virá a ser cobrado da mídia para sempre.
por Eduardo Meditsch Jornalista, Doutor em Comunicação e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Publicou também O Conhecimento do Jornalismo (Editora da UFSC, 1992) e A Rádio na Era da Informação (Editora Minerva, 1998).
Orson Welles (1915-1985), então com 23 anos, foi sem dúvida o personagem principal da história que se passou por trás dos microfones e, no dia seguinte, também diante das câmaras e nas manchetes dos jornais. Mas, como todo produto da mídia eletrônica, A Guerra dos Mundos foi uma produção coletiva e pelo menos outros dois autores de peso contibuiram com ele para o sucesso da obra: o escritor inglês Herbert George Wells (18661946), autor do romance em que se baseou o programa, e o roteirista Howard Koch (1901-1995), responsável pelo trabalho mais pesado na hora da adaptação. Quarenta anos antes de Welles, H.G. Wells já conquistara a fama com o lançamento do romance: A Guerra dos Mundos foi publicada pela primeira vez em folhetim, na revista inglesa Pearson's Magazine, entre abril e novembro de 1897. No ano seguinte, saiu em livro, ampliada na forma de romance, e começou a ser traduzida por todo o planeta. Cem anos depois de seu lançamento, o livro de H.G.Wells é unanimemente reconhecido como uma das obras primas que serviram de matriz para todo o desenvolvimento posterior da literatura de ficção científica. Contemporâneo do francês Júlio Verne, Wells foi o primeiro a imaginar uma invasão extraterrestre e a descrever um ser alienígena. No final do Século XIX, quando do lançamento do livro, a possibilidade de existência de vida inteligente em Marte era seriamente considerada pela ciência, mas não havia ainda sido tratada pela literatura. Wells não somente estava a par do conhecimento científico de sua época, como também antecipou no livro algumas tecnologias que ainda povoam o imaginário sobre os E.Ts. um século depois: raios laser, máquinas voadoras, máquinas de guerra em forma de aranhas, robots e armas químicas. E, o mais fantástico de tudo, criou tudo isso a partir de uma Londres que ainda se movia principalmente a cavalo e era iluminada à noite com lampiões a gás. Howard Koch, o roteirista novato e ainda desconhecido do Mercury Theatre on the Air da CBS, recebeu a tarefa de adaptar o texto literário para o rádio. Assim como ocorreu com Welles, o sucesso de A Guerra dos Mundos também catapultou Koch para a milionária indústria do cinema, e em 1942 ele ganharia um Oscar pelo roteiro de Casablanca (cuja estatueta leiloou, um ano antes de morrer, para pagar a universidade da neta). Mais do que uma adaptação, Koch fez uma recriação do livro, aproximando a estória - no tempo e no espaço - do cotidiano dos ouvintes e introduzindo o próprio rádio como protagonista dos acontecimentos narrados, sem desperdiçar a força dramática já presente no texto que consagrara o autor inglês. Curiosamente, num depoimento de 1968, o roteirista relata que várias vezes propôs a Welles desistir do texto e escolher outra obra, pois não gostou de fazer aquela adaptação. Mas a obstinação do diretor do Mercury Theatre levou A Guerra dos Mundos, que seria seu projeto favorito, até o final, sem se preocupar muito com as vontades - nem
com as noites de sono - de seus subordinados na equipe, obrigados a trabalhar sem horário até satisfazer o chefe. Como se tratava de um programa semanal, o roteiro foi todo produzido em seis dias, de terça a domingo (o roteirista, como tantos profissionais de rádio, tinha folga nas segundas). Koch conta que escrevia a lápis, e que seus manuscritos eram datilografados por uma estagiária na CBS. O script foi feito e refeito uma dezena de vezes, conforme as críticas e sugestões de Orson Welles e do produtor John Houseman a cada uma das versões apresentadas. Só foi considerado pronto um pouco antes do programa ir ao ar. Já está no romance a abertura genial da estória, que no rádio conservou a força e amplificou o efeito de empatia pretendido pelo autor do livro: descreve como as pessoas na terra seguiam vivendo a sua vida normal, ocupadas com seus vários afazeres, esperanças e ilusões cotidianas, "sem se darem conta de que a vida no planeta vinha sendo observada por inteligências superiores às nossas, porém tão mortais quanto somos, que nos examinavam assim como examinamos os microorganismos que povoam uma gota d'água". Nesta introdução, o roteirista apenas atualizou o presente da narrativa, transferindo "o olhar invejoso e sem simpatia dos marcianos", originalmente postado na vida inglesa do fim do século, para o contexto americano em 1938. No final da década de 30, o que mais os americanos mais gostavam de fazer era ouvir rádio, e é aí que o veículo entra em cena como protagonista central da estória. Já no segundo minuto da peça, somos levados a esquecer que estamos ouvindo uma obra de ficção, pois aparentemente esta foi interrompida por um boletim metereológico absolutamenre verossímil. Em seguida, estamos acompanhando um programa de música ao vivo, entrecortado por boletins de notícias, que a princípio são bastante realistas e tornam-se cada vez mais frequentes. O uso de boletins de notícias foi uma idéia de Welles, segundo o depoimento de Koch. Mas se a introdução do rádio na estória é uma criação da equipe novaiorquina, a notícia já representara um elemento narrativo importante no romance de H.G. Wells. Porém, de forma diferente: na invasão de Londres pelos marcianos, os personagens da estória original eram ávidos consumidores de jornais, em cujas edições extras procuravam informações para entender o caos que tomara conta "da mãe de todas as cidades" do auge do Império Britânico. Mas em A Guerra dos Mundos de Welles, a mãe de todas as cidades agora era Nova York, umbigo do novo império, e Nova York vivia ligada no rádio. A diferença fundamental, em relação ao romance, é que nesta nova versão os personagens da estória não são apenas ouvintes de rádio - o que representaria a mera atualização dos personagens-leitores de jornal, passivos: agora, os personagens falam pelo rádio. E, mais do que falar entre si, falam diretamente aos ouvintes.
Pode-se dizer que esta inversão, sutil e raramente notada pelos críticos, foi o que colocou o rádio como o protagonista central da estória, e em consequência inscreveu A Guerra dos Mundos na História real deste século. Não é por mero acaso que este se tornou o programa mais falado da História do Rádio. Ao colocar o rádio no enredo, a equipe de Welles reforçou a invasão marciana de Wells com todo o potencial dramático do meio, que na época vivia sua adolescência, com apenas dezoito anos de experiência desde a fundação da primeira emissora regular, a KDKA de Pittsburgh, também nos Estados Unidos. Não se sabe até onde a equipe premeditou os efeitos do programa sobre o público. No depoimento, Howard Koch conta que foi dormir logo depois de ouvir a irradiação em sua casa, e que só soube do estrago que havia causado no dia seguinte, ao ler as manchetes dos jornais calmamente sentado na cadeira do barbeiro. Provavelmente, previra apenas provocar alguma empatia no público, com sua escassa experiência de seis meses em seu primeiro emprego regular. De qualquer forma, o programa realizado a partir de seu script revelou ao mundo algumas potencialidades do rádio como meio de expressão que não haviam sido ainda claramente percebidas, enquanto o "sem fio" era pensado apenas como um suporte imperfeito para a transmissão de obras teatrais e literárias produzidas para os olhos. A transmissão ao vivo, no tempo real do público, característica dos meios eletrônicos, apareceu como uma das principais possibilidades expressivas utilizadas pela equipe do Mercury Theatre com maestria. Para tirar partido dela, o roteirista comprimiu o tempo dramático da história original. No romance, desde a observação, pelos astrônomos, da ocorrência de estranhas explosões no planeta Marte, lançando raios em direção à Terra, até a chegada das naves marcianas a nosso planeta, passam-se nada menos do que seis anos - o tempo calculado para a viagem. No rádio, o percurso não demora mais do que seis minutos, tempo ocupado por uma entrevista com "o astrônomo Pearson", que desdenha a possibilidade de existir vida inteligente no planeta vermelho, e pela execução da música La Cumparsita, pela "Orquestra de Ramon Raquello", que estaria tocando "no Salão Meridian do Hotel Park Plaza". Em consequência, a relação causa-efeito entre o fenômeno observado pelos astrônomos e a queda de um objeto nãoidentificado na terra, que no livro é explicitada pelo autor, no rádio é inferida antes pelo público, o que o leva a questionar as palavras do entrevistado. No tempo real do público, a estória se passou toda em 44 minutos, mas o tempo dramático e o tempo subjetivo em que se desdobram, a partir daí, todos os acontecimentos narrados, certamente foi o que permitiu o efeito de realidade capaz de iludir, até o desespero, uma grande parcela do público. A ubiquidade da transmissão e de recepção, e a portatibilidade desta última, são algumas das características da comunicação eletrônica que o
rádio inaugurou e de certa forma continua utilizando de forma única. Graças a estas características, continua sendo o meio com maior penetração social batendo a TV em volume de audiência durante 18 horas por dia - e o que goza de maior credibilidade, apesar do prestígio da imprensa e do sucesso da televisão. É esta mobilidade, em ambos os polos do processo comunicativo, que permite, ocasionalmente, a ocorrência de uma fusão de contextos - o da transmissão com o da recepção - fundindo, como observou BARTHES (1984), o acontecimento com o seu relato. Este fenômeno ocorre em muitas situações corriqueiras - como na reportagem de serviço, com o trânsito, ou no estádio de futebol - e fornece à informação do rádio um argumento de autoridade difícil de igualar. Em consequência, a impressão de realidade, que no audiovisual custa tanto esforço construir e se torna tão fácil de desmascarar, no rádio ocorre quase naturalmente, construída no cérebro do ouvinte com a solidez do mundo real que o envolve e que percebe mesclado com o som do receptor. O escritor William BURROUGHS (1968) imaginou utilizar este efeito para provocar uma "revolução eletrônica". Howard Koch e Orson Welles fizeram com ele uma guerra virtual. Haja criatividade. Richard Pearson, o professor de astronomia que na estória do rádio é o personagem principal, sequer existia no livro. Lá, o astrônomo, chamado Ogilvy, é um personagem secundário, que cai fulminado com os raios de calor disparados pelos extraterrestres no início do romance. O personagem principal do livro era nada menos do que um filosófo, que narra toda a estória na primeira pessoa. A substituição possivelmente foi decidida num esforço de simplificação, em parte justificável pelas características do veículo, em parte pelas características do público-alvo, na época do rádio generalista movido pelo show-business. A simplicidade é um imperativo do meio e de sua linguagem. Esta lei é sustentada por todos os teóricos do rádio, desde os seus primórdios, quando já começaram a notar a incompatibilidade entre as formas demasiadamente complexas e o veículo exclusivamente auditivo. Está expressa nos alemães KOLB (1931) e ARNHEIM (1936), nos franceses FUZELIER (1965) e TARDIEU (1969) , no belga Theo FLEISHMAN, que fez as primeiras normas de redação para o radiojornalismo na Europa, e no escritor italiano Carlo Emilio GADDA, que as estabeleceu para a RAI na década de 40. Portanto, tecnicamente, a simplificação da estória, com a substituição do filósofo pelo astrônomo, pode ter sido uma boa solução. Porém, do ponto de vista estético, houve uma inegável banalização do tema, o que certamente foi uma das razões da revolta de H.G. Wells com o uso que os americanos fizeram de sua obra. (SARRAUTE, 1976). O escritor inglês, um humanista convicto, havia pensado A Guerra dos Mundos sobretudo como um questionamento a respeito da civilização, e especialmente do imperialismo de seu país, que na época dominava o
mundo. A brutalidade dos marcianos, que se alimentavam de sangue humano, matavam sem necessidade aparente e transformavam tudo a seu alcance em cinzas, é a todo momento comparada, pelo personagem-filósofo do romance, com os genocídios praticados pelos europeus contra os povos por eles colonizados, à crueldade corrente com os animais e à arrogante destruição da natureza por parte de seus compatriotas. Muito pouco sobrou, desta "moral da estória", na versão do rádio. Talvez a equipe de Orson Welles não fosse tão sensível a estes temas, provavelmente a empresa que pagava os seus salários também não o era, e certamente eram preocupações alheias à cultura de um império emergente, na qual o Mercury Theatre da CBS estava inserido. À moda americana, no programa de rádio todo o mal é encarnado em uma pessoa, um psicopata com que topa o professor Pearson em sua caminhada, e que pretende aprender com os marcianos para depois dominar seus semelhantes e conquistar o mundo. A semelhança com Hitler e Stálin, na época já temidos e demonizados como virtuais inimigos do mundo livre, é mais do que evidente. No livro, este personagem também existe, mas não pensa em dominar ninguém, sua loucura é só de pensar em ser capaz de derrotar os extraterrestres. O rádio empobreceu A Guerra dos Mundos pela simplificação, mas também aumentou a sua força dramática. Contribuiu para isso, além do tempo real da narração, o fantástico poder de sugestão da palavra sonora e invisível. MCLUHAN (1964) observou que o rádio toca em profundidades subliminares da mente, e que as palavras desacompanhadas de imagem, como quando conversamos no escuro, ganham uma textura mais rica e mais densa. RODRIGUES (1988) relaciona a força psicológica do rádio à voz primordial que ouvimos no útero da mãe, e BANG (1991) atribui ao mesmo fenômeno o poder emocional da música. DE SMEDT (!992) observa que o som nos toca e nos envolve. Como BAKHTIN (1979), salienta que percebemos o visto como algo externo ao corpo, enquanto o que ouvimos ressoa dentro de nós. O poder de evocação da palavra já é imenso na literatura, e foi utilizado com destreza por H.G. Wells para conduzir a imaginação de seus leitores a uma ruptura da vida cotidiana pela entrada em cena de seres improváveis, superiores e hostis. No rádio, a mesma descrição do suspense de sua chegada, da perplexidade diante de máquinas incompreensíveis e do asco provocado pela aparência dos monstros sai da forma congelada da palavra escrita para tomar vida na angústia, na surpresa e no horror expressados por gargantas humanas. Neste aspecto, Koch pouco alterou a obra do escritor. Conservando basicamente as mesmas descrições fantásticas, o programa de rádio apenas se encarregou de dar-lhes voz, acrescentando o subtexto da interpretação dos atores com Welles no papel principal. WEISS
(1992) propõe que uma mente paranóica atribui à voz desencarnada do rádio as mesmas prerrogativas atribuídas ao Deus judaico-cristão: ubiquidade, panopticismo, onisciência e onipotência. Para BACHELARD (1949), que equiparou a escuta do rádio ao devaneio, a ausência da imagem é a chave para penetrar no mundo interior do ouvinte. Em alguns momentos, o roteirista utiliza efeitos sonoros - quase sempre para ilustrar um som já referido no romance, como o tic-tac da maquinaria do observatório astronômico ou o zumbido vindo da nave marciana tombada no campo. Mas os efeitos sonoros são reduzidos, diante da complexidade da situação expressa na estória: o que não soa, no rádio, só pode ser expresso pela palavra. Assim, na maior parte das vezes, Koch opta pela palavra, desdobrando em diálogos, entrevistas radiofônicas e boletins de notícia o que no livro é contado em monólogo pelo personagem principal. Para dar ritmo - e efeito de realidade - à narrativa, utiliza um grande número de testemunhas verossímeis e habitués do rádio, como agências de notícias, autoridades, cientistas, militares e "homens comuns". Apenas no último terço da peça, o roteiro começa a desfazer o engano provocado nos ouvintes, pelo abandono do formato de programa musical/jornalístico adotado desde o início. Aos poucos, o rádio vai deixando de ser protagonista da estória, e a solução encontrada para tanto também é genial: a emissora é destruída pelos marcianos. Só a partir daí, com a continuidade da narrativa, o público pode se tranquilizar com a certeza de estar lidando com ficção. Mas é provável que muitos, já em estado de pânico, não tenham se dado conta tão facilmente disto. A última parte do script segue um modelo mais tradicional de radiodrama. O rádio sai de cena como protagonista, e se transforma outra vez em veículo para a expressão dos personagens em seu mundo de ficção. O diálogo, agora, não é mais com o ouvinte, mas dos personagens entre si. O comandante com o artilheiro no canhão, o aviador com a torre de comando, o professor Pearson com o psicopata e, por fim, ele só, no monólogo que conta o desfecho da estória: a morte de todos os até então invencíveis marcianos, derrotados pelas bactérias terrestres, e a retomada da vida normal no planeta. A música utilizada, com tema místico, também muda de papel: já não interrompe a estória, mas serve de fundo para enfatizar-lhe o clima. Aqui é onde a estrutura narrativa mais se aproxima do romance, embora haja mais diálogos e outras adaptações determinadas pela diferente natureza do veículo. A equipe de Welles foi fiel a H.G. Wells em vários aspectos e, onde não pôde ser, muitas vezes procurou soluções que o aproximassem das intenções do autor do livro. Como no caso das interrupções musicais, que criam o ritmo de respiração tão importante para a criação do suspense. No romance, este efeito é conseguido pela intercalação de cenas da chegada dos marcianos com outras absolutamente cotidianas, como a pausa dos
protagonistas para o chá das cinco, ou a descrição dos vendedores ambulantes que aproveitam a presença da multidão em torno da primeira nave para oferecer suas mercadorias. Em seu depoimento, Koch conta que escolheu a localidade de Grovers Mills para a descida dos marcianos apontando para o mapa de olhos fechados, e que a confirmou porque o nome soava bem (a comunidade local agradece, construiu um Museu sobre A Guerra dos Mundos e até hoje fatura com turismo graças a esta escolha aleatória). Mas até a transferência do cenário, da região de Londres para a de Nova York, e também para um presente de quarenta anos após, segue a lógica do romance, que já procura identificação e empatia com o público. Neste ponto, a equipe do Mercury Theatre só pode ser responsabilizada por ter ido um pouco longe demais, ou por não haver se dado conta de que, no rádio, o efeito desta empatia seria totalmente diferente. Além do tempo real e da fusão psicológica dos contextos, o autor de um script para o rádio tem que ter outro cuidado em relação à maneira como sua mensagem será recebida pelo público: o permanente zoom auditivo (CEBRIAN HERREROS, 1983) entre o ouvir intencionado e o escutar sem atenção, que caracteriza a audição de qualquer programa, requer a reiteração permanente das principais informações, pois estas podem não ser objeto da atenção do público que se dispersa a cada momento. A audição de rádio se caracteriza por um zapping perceptivo (FENATI) entre os estímulos sonoros que saem do receptor, e os demais estímulos auditivos, visuais, olfativos e táteis do contexto da recepção que concorrem pela atenção do ouvinte. Desta forma, a confusão provocada nos ouvintes por A Guerra dos Mundos, para ser evitada, requereria a reiteração, diversas vezes, ao longo do programa, da informação de que se tratava da adaptação de um romance. De nada adiantou Orson Welles explicar, no final da estória, que tudo não passara de uma brincadeira pelo tradicional Dia das Bruxas: o estrago estava feito. A tênue fronteira entre dois gêneros do discurso radiofônico, o jornalismo e a ficção, já havia sido arrombada. Comprovou-se, então, o que teóricos da linguagem, como BAKHTIN e BARTHES procuram demonstrar há décadas: os gêneros do discurso não pertencem unicamente aos emissores, são também propriedade do público, forjados por cada cultura num diálogo social ininterrupto que se perde nas raízes do tempo. O desrespeito a esta construção coletiva leva à incomunicação ou à convulsão. Desde então, os limites entre os diversos gêneros têm sido mais fortemente patrulhados, pelos códigos de ética e pelas legislações de radiodifusão de todos os países. Em consequência, A Guerra dos Mundos será sempre lembrada como uma espécie de "pecado original" da mídia. E o roteiro assinado por Howard Koch, produzido sob a orientação do diretor Orson Welles e do produtor John Houseman, como uma autêntica obra prima, que revelou todo o poder da magia do rádio, inclusive para iludir o
público, tanto em causas boas e belas, como a da arte e a do entretenimento, como em outras, mais trágicas, como a da exploração da ignorância das massas para mobilizá-las à guerra e mantê-las sob domínio. Bibliografia: ARNHEIM, Rudolf (1936) Radio. Trad. espanhola: Estética Radiofónica. Barcelona Gustavo Gili, 1980 BACHELARD, Gaston (1949) "Reverie and Radio" in STRAUSS, Neil & MANDL, Steve (orgs.) Radiotext(e). New York, Semiotext(e), 1993 BAKHTIN, Mikhail (1979) Estetika Slovesnogo Tvortchestva. Trad. brasileira: Estética da Criação Verbal. São Paulo, Martins Fontes, 1992 BANG, Claus (1991) "Um mundo de som e música" in RUUD, Even (org.). Música e Saúde. São Paulo, Summus. BARTHES, Roland (1984) Essais critiques IV: Le bruissement de la Langue. Trad. Portuguesa: O rumor da língua. Lisboa, Edições 70. BURROUGHS, William (1968) Electronic Revolution. Trad. Portuguesa: A Revolução Electrónica. Lisboa, Vega, 1994 CEBRIAN HERREROS, Mariano (1983) La Mediación Técnica de La Información Radiofónica. Barcelona, Mitre. DE SMEDT, Thierry (1992) "Ce qui désigne le sonore comme le champ d'une action éducative" in L'enfant et le son". Louvain-la-Neive, UCL FENATI, Barbara (1994) "Stili di consumo radiofonico" in MONTELEONE, Franco et al. La Radio che non c'é: Settant'anni, un grande futuro. Roma, Donzelli. FUZELIER, Etienne
(1965) Le langage radiophonique. Paris, Institute des Hautes Études Cinématographiques. GADDA, Carlo Emilio 1953 Norme per la redazione di un testo radiofonico. Trad. francesa. L'art d'écrire pour la radio. Paris, Les Belles Lettres, 1993 KOCH, Howard (1938) The War of the Worlds. Radio Script. Tradução brasileira de Eglê Malheiros. (1968) "The night the world came to an end almost". Encarte no album The War of the Worlds, Evolution Stereo 4001. KOLB, Richard (1931) "O desenvolvimento da peça radiofônica artística a partir da essência do rádio" in SPERBER, Geroge Bernard (org.) Introdução à Peça Radiofônica. São Paulo, EPU, 1980 MCLUHAN, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. Trad. Brasileira: Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo, Cultrix, 1993 MEDITSCH, Eduardo (1996) A Especificidade do Rádio Informativo. Tese de Doutorado. Lisboa, FCSH/UNL. RODRIGUES, Adriano Duarte (1988) O Campo dos Media. Lisboa, Vega. SARRAUTE, Claude (1976) "Welles e Wells" in LAVOINNE, Yves. A Rádio. Lisboa, Vega. TARDIEU, Jean et al. (1969) Grandeurs et faiblesses de la radio. Paris, Unesco. WEISS, Allen (1992) "Radio, Death and the Devil: Artaud's pour un finir avec le jugement de dieu" in KAHN, Douglas & WHITEHEAD, Gregory (orgs.) Wirelles Imagination: Sound, Radio and the Avant-Garde. Cambridge, The MIT Press. WELLS, H.G.
(1898) The War of the Worlds. Novel. New York, Signet Classic, 1986
3. O profeta no ar: a figura do locutor em A Guerra dos Mundos A voz e a presença do locutor ao microfone conferem um tom profético ao discurso que revive mitos ancestrais. No tom utilizado pelo locutor reside grande parte da capacidade de convencimento demonstrada pela experiência de Orson Welles.
por Adriana Ruschel Duval Jornalista e mestranda em Comunicação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Trabalhou em diversas emissoras gaúchas de rádio e televisão.
“ - Atenção senhoras e senhores ouvintes...” Aquela voz era de Orson Welles... A imaginação dos ouvintes fez o resto...1 No momento em que o comutador do receptor radiofônico sintoniza a freqüência da CBS – Columbia Broadcasting System – na noite de domingo, 30 de outubro de 1938, pelo menos seis milhões de ouvintes captam uma orquestração de vozes e sons inédita na história da radiodifusão mundial. Neste ano, os Estados Unidos contam com um expressivo número de aparelhos de rádio: 200 por mil habitantes.2 A audiência urbana e rural aumenta e o custo dos receptores diminui. O final da década de 1930 serve de palco para “cenas de ouro” do rádio norte-americano. Os últimos anos da década de 30 representaram uma época áurea para a radiodifusão. O rádio tornava-se cada vez mais aceito como uma parte essencial da vida americana e, antes de concretizada a concorrência com a televisão, representava a suprema forma de entretenimento doméstico, oferecendo uma larga variedade de programas.3 O veículo, cuja audiência se tornara hábito, é sinônimo de fonte da verdade. Na década de 1930, ouvintes confessam: Temos tanta fé no rádio! Em um momento de crise, há de chegar a todos. Para isto é o rádio.4 O locutor — speaker — desempenha importante papel neste enredo de credibilidade. O próprio termo anuncia uma posição privilegiada: o speaker — do inglês, “aquele que fala” —, carrega, no nome e na voz, um tom profético. E, entendendo-se por “profeta” o homem inspirado, que fala em lugar de Deus ou o indivíduo que prediz o futuro5, compreende-se a colocação deste profissional no universo dos mitos edificado pelo imaginário coletivo e sustentado por práticas sociais ritualizadas através do veículo em questão. O caráter mítico-religioso associado a este processo comunicacional traz à tona um conceito formulado por Hermann Usener, de sua obra Os Nomes Divinos, e abordado por CASSIRER: o de “deus momentâneo”. (...) trata-se de algo puramente momentâneo, de uma excitação momentânea, de um conteúdo mental que emerge fugaz e torna a desaparecer com rapidez análoga que, ao se objetivar e descarregar externamente, cria a configuração do “deus momentâneo”.6 Esta “entidade” seria constituída a partir de impressões e desejos, esperanças e temores, cujas presenças afetassem religiosamente o homem. A concessão de um caráter de deidade a sensações e atitudes do momento direciona a percepção deste elemento — instrumento de re-ligação
(religião = religare, do latim: unir novamente) permanente do homem consigo mesmo e com o universo. O deus momentâneo, portanto: (...) se ergue diante de nós com sua imediata singularidade e particularidade, não como parte de uma força suscetível de se manifestar aqui e acolá, em diferentes lugares do espaço, em diferentes pontos do tempo e em diferentes sujeitos, de maneira multiforme e no entanto homogênea, mas sim, como algo que só existe presentemente aqui e agora, num momento indivisível do vivenciar de um único sujeito, a quem inunda com esta sua presença e induz em encantamento.7 A concepção da imagem do locutor, sob parâmetros míticos da recepção radiofônica, é acentuada pelas raízes da matéria-prima que este profissional domina: a palavra. Imbuído da tarefa de vestir a mensagem com as cores e texturas dos tecidos vocais, o speaker traja o manto sagrado da representação através da voz. A roupagem das sílabas, unidas na perenidade da pronúncia, faz alusão ao sagrado, ao tempo primordial. (...) Nos relatos da Criação de quase todas as grandes religiões culturais, a Palavra aparece sempre unida ao mais alto Deus criador, quer se apresente como o instrumento utilizado por ele, quer diretamente como o fundamento primário de onde ele próprio, assim como toda existência e toda ordem de existência provêm. O pensamento e sua expressão verbal costumam ser aí concebidos como uma só coisa, pois o coração que pensa e a língua que fala se pertencem necessariamente.8 “Aquele que fala” — o locutor, “profeta do ar” — garante a eficácia do discurso no reconhecimento erigido, pois, no âmbito da recepção, reforçado pelas construções simbólicas relacionadas ao ato comunicativo. A sensação de presença, proporcionada pelas propriedades do veículo rádio, é fortalecida pela efemeridade da transmissão da mensagem. ROCCO destaca esta presença como importante ponto abordado por PERELMAN, no que tange a análise das práticas de persuasão. (...) E o que seria esta presença? Seria a capacidade de manter vivos para a consciência certos elementos (objetos, pessoas, emoções — reais ou não), mesmo que não haja qualquer base calcada em demonstrações formais ou provas. A evidência e o presente mantêm-se basicamente da estimulação da sensibilidade e da emoção do
receptor (do ouvinte). E esse trabalho de plasmar uma presença se dá, de forma argumentativa, por meio de um uso consciente e calculado do verbal, onde várias possibilidades evocadoras e mantenedoras da presença são exploradas. Tratase pois de um domínio da retórica da persuasão, calcada fundamentalmente no imaginário (...).9 As características do meio, propiciando um movimento constante de ação/reação imprevisíveis ao ouvinte, transformam cada fração de tempo em um instante “mágico”, “divino”, onde o aqui e agora desperta emoções e sentimentos recônditos no inconsciente. A instantaneidade da informação no rádio empresta uma sensação de realidade, mesmo em nível ficcional. Todavia, para que haja tal característica, faz-se necessário o estabelecimento de um vínculo harmônico entre o que se fala, quem fala e como fala. A relação locutor-discurso se faz indissociável; portanto, seja em razão da característica pessoal do emissor, do orador, seja pela forma segundo a qual é estruturada a linguagem em que esse discurso é expresso (...).10 Uma vez atendidos os requisitos supramencionados, pode-se constituir a imagem do que BOURDIEU chama de porta-voz autorizado. Trata-se de um elemento materializado por símbolos ou pelo próprio título, que executa uma representação do público receptor. (...) ele tem a realidade de sua aparência, sendo realmente o que cada um acredita que ele é porque sua realidade (...) está fundada na crença coletiva, garantida pela instituição e materializada pelo título ou pelos símbolos (...)11 A percepção do papel desempenhado pelo locutor no processo da comunicação — enquanto emissor/mediador de informações e fontes — e a credibilidade na figura do mesmo asseguram “poder” às palavras proferidas ao microfone. Uma vez que a ritualização inerente à técnica radiofônica pressupõe a “conversão” do ouvinte por meio da articulação verbal, verifica-se a reafirmação de uma crença — por parte do receptor e preexistente ao ritual — relativa ao locutor. O poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz cujas palavras (quer dizer, de maneira indissociável, a matéria de seu discurso e sua maneira de falar) constituem no máximo um testemunho, um testemunho entre outros da garantia de delegação de que ele está investido.12
O locutor, sendo reconhecido pelo auditório pela própria função a ele outorgada, desperta, antes mesmo de proferido o discurso, a confiança no destinatário da mensagem. Cabe ressaltar que, em A Guerra dos Mundos, identifica-se a presença de três vozes — masculinas — no papel de locutor. Encontramos, pois, o que faz a abertura/encerramento do programa, identificado com a emissora, como porta-voz oficial da mesma; o que estabelece as mediações entre as personagens, chamando as transmissões externas, quais sejam: os boletins informativos e as atrações musicais, e o locutor — que aparece uma só vez — que faz a ponte com o diálogo entre militares. A inserção dos locutores no desenvolvimento do programa contribui para reforçar a confusão dos gêneros jornalístico e literário, dificultando a percepção da linha divisória entre realidade e ficção. A princípio, abordamos a questão do uso da figura do locutor enquanto protagonista no enredo, como objeto de credibilidade. No entanto, mesmo que o roteiro de A Guerra dos Mundos indique a presença de dois locutores enquanto personagens na ação teatral, o terceiro locutor — oficial da CBS — também pode ser enquadrado enquanto peça da articulação ficcional, uma vez que ele anuncia a entrada do programa omitindo-se de esclarecimentos mais apurados acerca da natureza do mesmo; somente ao final da irradiação elucida que se trata de uma dramatização e repete o nome da emissora — em um gesto de legitimação dos conteúdos passados anteriormente. Seriedade no estilo de falar, firmeza na voz, potência — relacionada à posição de comando —, onisciência — oriunda do fato de se ter a informação antes que todos os demais — estão entre os principais elementos conferidos ao cargo de locutor em A Guerra dos Mundos. Este retrato estereotipado do radialista à frente do microfone baseia-se na construção mítica em torno desta atividade. No rádio, como no cinema, o brilho da “constelação” de astros e estrelas ofusca no quadro de expectativas do público, trazendo à tona, no espaço da coletividade, esperanças e temores da individualidade. O caminho da persuasão do receptor passa pelas curvas da pronúncia, do vocabulário e de inflexões vocais. O uso ou a ausência de efeitos sonoros sinaliza as rotas que conduzem a este objetivo. A voz impostada e a locução livre de trilhas musicais em A Guerra dos Mundos constroem um cenário de realidade no solo da ficção. A manipulação vocal é atribuída por BOURDIEU a grande parte do poder de convencimento e, portanto, do sucesso do discurso. O locutor em questão enquadra-se nos requisitos sugeridos pelo autor para o êxito em termos de sugestionabilidade do ouvinte. (...) depende da pronúncia (e secundariamente do vocabulário) daquele que o pronuncia, ou seja, através deste índice particularmente seguro da
competência estatuária, da autoridade do locutor. (...) Processo semelhante envolve outras propriedades lingüísticas como, por exemplo, a impostação da voz (a nasalização ou a emissão pela faringe), disposição do aparelho vocal que constitui um dos marcadores sociais mais poderosos (...).13 As intervenções do locutor, com boletins interrompendo a programação “normal” — pretensamente, a irradiação de um concerto musical —, conduzem à sugestão de verdades inquestionáveis. A ponte entre estúdio e externa — o speaker requisitando a fala dos correspondentes e especialistas — enriquece a carga de dramaticidade. O comando do programa fica, nitidamente, situado na figura do locutor, que centraliza, em um estúdio de Nova Iorque, as informações e os contatos com fontes oriundas de diversas partes. O locutor, como detentor da palavra, fala com naturalidade ao público ouvinte e, com a mesma intimidade de quem rege uma orquestra com propriedade e segurança, cede a vez aos “correspondentes” (repórteres) e especialistas de áreas variadas. O estúdio de rádio se transforma no centro do universo. A ele são canalizadas as personagens, que se intercalam no desenrolar do episódio com a permissão do condutor do programa e se legitimam como porta-vozes na medida em que, além deste fato, simbolizam o poder pelas funções profissionais desempenhadas e pelos títulos adquiridos. A caracterização do estúdio radiofônico, em cujo núcleo reside a figura do locutor, como o centro do universo, remete aos princípios cosmogônicos descritos por ELIADE. O speaker torna-se o xamã que promove o re-ligamento às origens — fins e começos se tornando unos em uma narrativa do caos. O locutor, ao fazer a leitura do boletim meteorológico, no começo do programa, já demonstra o controle do tempo, uma de suas propriedades “divinas”. No decorrer da história, intercalando a tranqüilidade das transmissões musicais com a narração de terríveis incidentes provocados pelos “marcianos”, este personagem serve como intermediário entre o Bem e o Mal, como um Ser Superior, isento e imortal, protegido pela redoma intangível das quatro paredes do estúdio. Ao discorrer sobre o estado caótico provocado pelo inimigo — os setores de comunicações e transportes, meios interligados e fundamentais para o deslocamento de pessoas e informações, afetados pelo agressor —, e “mapear” a situação, levando ao receptor dados sobre várias localidades, o locutor concentra ainda mais o “poder”: o detentor da Palavra, no trono do Cosmo, profere o destino da humanidade. A descrição dos acontecimentos leva a crer no extermínio da Terra provocado pelos habitantes de Marte. O teor apocalíptico impregnado
no episódio remete, por sua vez, à idéia de degradação progressiva do Universo, que necessitaria de movimentos constantes de destruição e recriação. (...) para que algo de verdadeiramente novo possa começar, é necessário que os resíduos e as ruínas do velho ciclo estejam completamente liquidados. Por outras palavras, se se deseja obter um começo absoluto, o fim de um Mundo deve ser radical. A escatologia não é mais do que a prefiguração de uma cosmogonia do futuro. Mas toda a escatologia insiste nesta facto: a Nova Criação não pode surgir enquanto este mundo não for definitivamente abolido. Não se trata já de regenerar o que está degenerado, mas de destruir o velho mundo para que ele possa ser recriado in toto. A obsessão da beatitude dos primórdios exige a destruição de tudo o que já exisitia e que se degradou depois da criação do Mundo; é a única hipótese de reintegrar a perfeição inicial.14 O desenlace de A Guerra dos Mundos comprova a impossibilidade de se rumar aos tempos primeiros, de se adquirir, dessa forma, a perfeição inicial. A figura do locutor, que fez a abertura e a intermediação entre as partes o tempo todo, desaparece nos últimos minutos do programa — como se o profeta do ar já tivesse propagado seus prognósticos e cumprido, portanto, sua função. Surge a personagem de um narrador, que comprova, de algum lugar no tempo e no espaço, o advento de uma nova época. A guerra dos mundos, travada no solo sagrado do imaginário, não teria, portanto, nem um começo nem um fim: permaneceria entre os meridianos da vida e da morte, da realidade e da fantasia, ao sabor cíclico das premissas humanas e das predições divinas. NOTAS: 1 TAVARES, Reynaldo. Histórias que o rádio não contou: do galena ao digital, desvendando a radiodifusão no Brasil e no mundo. São Paulo: Negócio, 1997, p.210. 2 MATTELART, Armand. Comunicação-mundo: história das idéias e das estratégias. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994. 3 CASHMAN, Sean Dennis. America in the twenties and thirdies – the olympian age of Franklin Delano Roosevelt. New York: New York University Press, 1989, p.326. 4 CANTRIL, Hadley. In MORAGAS, M. de. Sociologia de la comunicación de masas II – estructura, funciones y efectos. Barcelona: Gustavo Gilli, 1985, p.96.
5 LUFT, Celso Pedro. Mini dicionário Luft. São Paulo: Scipione, 1991, p.503. 6 CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 1985, p.34. 7 Idem. 8 Ibidem, p.65. 9 Ibidem, p.60. 10 ROCCO, Maria Thereza Fraga. Linguagem autoritária: televisão e persuasão. São Paulo: Brasiliense, 1989, p.70. 11 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp, 1996, p.105. 12 Idem, p.87. 13 Ibidem, p.57. 14 ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Lisboa: Edições 70, s/d, p.49.
4. Os espaços de silêncio em A Guerra dos Mundos A utilização do silêncio, enquanto recurso não-verbal da linguagem radiofônica, foi fundamental para dar verossimilhança ao texto sonoro e para criar o lugar de intérprete e de co-autor do ouvinte-receptor. O silêncio possibilita que o dizer venha a ser outro.
por Ana Baumworcel Jornalista, mestranda em Comunicação e Professora da Universidade Federal Fluminense. Trabalhou em jornal e emissoras de rádio do Rio de Janeiro.
“O ruído mata os pensamentos”, afirmou F. Nietzsche, em Assim falava Zaratustra. Estudar o silêncio foi uma opção para pensar o Rádio de um outro lugar. “Cultivar o entendimento do silêncio é aprofundar na fala um tempo de suspensão e de contemplação, de mudança e de vôo, que está aí necessariamente implicada”. (L. Jenny em La Parole Singulière, 1990) Introdução: Orson Welles, em A Guerra dos Mundos, usou e abusou do silêncio. A utilização do silêncio foi importante para dar sentido às palavras, às músicas e aos efeitos sonoros. Sem silêncio, a linguagem não significa. O silêncio é a grande mediação para a interpretação. E interpretar é dar sentido. Para M. Foucault (1972), “ o sujeito se constitui quando dá sentido a todo e qualquer objeto que o cerca”. Portanto, façamos silêncio para pensar na ideologia da comunicação da sociedade contemporânea que se expressa pela urgência do dizer. Orlandi (1995) fala da ilusão de controle pelo que “aparece”: “temos de estar emitindo sinais sonoros continuamente, pois o nosso imaginário social destinou um lugar subalterno para o silêncio. O homem se preenche com a fala, criando a idéia de silêncio como o vazio, a falta. Ao negar sua relação fundamental com o silêncio, ele apaga uma das mediações que lhe são básicas. O homem não se dá o tempo de trabalhar a diferença entre falar e significar”. Este estudo parte da Análise do Discurso, na perspectiva de pensar os efeitos do não-verbal e do verbal, ou seja, entender a função do silêncio num meio sonoro como o Rádio. O objetivo é refletir como o silêncio contribui para a formação e a materialização da imagem mental, fazendo com que o ouvinte não seja um receptor passivo e “crie sua própria cenografia num espaço infinito de escuridão”. O receptor é um “ouvido que divaga” (René Farabet, diretor do Centre de Création da Radio France - cit. In PORTO, 1996). E o ouvido é um orgão sempre aberto, que não dorme e que estabelece conexão imediata com camadas profundas da mente. O ouvido alcança o inconsciente produzindo vivências e sonhos, despertando a imaginação. O silêncio dá ao dizer a possibilidade de ter vários significados. O autor constrói a dramaturgia da realidade, mas é o ouvinte, em silêncio, quem inventa suas próprias ilusões. É o caráter de incompletude da linguagem. E, como defende Orlandi (1995), “é a incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, base da polissemia. O silêncio preside esta possibilidade”. Silêncio, Interpretação, Imaginação
Em A Guerra dos Mundos, o repórter Phillips está na fazenda Wilmot, em Nova Jersey, descrevendo a “coisa que caiu e estava semi-enterrada num grande buraco, quando terríveis monstros começam a sair e travam uma verdadeira guerra. É a batalha dos seres estranhos contra a população”. Barulhos e gritos se intercalam às palavras, num tom crescente.“Está vindo para cá, uns seis metros à minha direita...”. Repentinamente a cena é cortada por um silêncio de seis segundos. O que pretendia Welles ao deixar o silêncio no ar, no ápice do drama? Qual o significado deste silêncio? Uma resposta pode ser pensada a partir de Orlandi (1995). Ela assinala que “o silêncio é um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Além disso, o silêncio abre espaço para o movimento do sujeito. É o silêncio como horizonte, que atravessa as palavras, que existe entre elas, que indica que o sentido pode sempre ser outro ou ainda que aquilo que é o mais importante nunca se diz”. Orlandi lembra que silêncio - na etimologia, silentium - significa mar profundo, e como para o mar, é na profundidade, no silêncio, que está o real do sentido. Ao interromper o som, Welles corta a linearidade do texto sonoro-verbal, instalando a ruptura - na forma de silêncio - e, assim, abre espaço ao movimento do sujeito-ouvinte no trabalho de significação e de co-autoria. Welles só sugere, cria o clima, o ambiente - silencia - e o ouvinte faz o resto. Balsebre (1994) afirma que a multiplicidade de aspectos significativos do silêncio mostra que ele é algo mais que um fator não verbal e o classifica como o sistema expressivo não sonoro da mensagem radiofônica. Para ele, o silêncio pode ser um parâmetro no processo de produção da imagem sonora de dimensões semelhantes ao tom e ao timbre da palavra. “O silêncio delimita núcleos narrativos construindo um movimento afetivo e contribuindo para a percepção sonora e imaginativa-visual do ouvinte. Ele também dá conotação afetiva à palavra.” O silêncio inserido entre as sensações acústicas produzidas pelo Rádio pode servir, ainda, de elemento distanciador, que permite a reflexão e obriga o receptor a adotar uma atitude ativa para preencher um vazio. Em A Guerra dos Mundos, o silêncio no trecho selecionado representa um espaço para que o ouvinte continue a narrativa. Ainda com Balsebre (1994), sabemos que a chave da criação radiofônica é conseguir uma boa conexão entre a imaginação do emissor e o imaginário coletivo dos ouvintes. Estes, seduzidos pela capacidade de evocação e de produção imaginária que encontram no “mundo mágico” do Rádio, se “apropriam” da mensagem, “viajam” nas ondas, produzindo sentidos. E foi o que o “mágico” Orson Welles conseguiu. Após os seis segundos de silêncio, a transmissão feita diretamente da fazenda é interrompida e entra um locutor apresentando um boletim
informativo e uma música. De acordo com Balsebre, a atenção no Rádio cessa, depois de seis a dez segundos de uma forma sonora de duração constante. Provavelmente, o mesmo ocorrerá com uma forma não sonora, como o silêncio. Poderíamos, então, concluir que Welles foi preciso no tempo destinado ao silêncio. Neste trecho de A Guerra dos Mundos, o silêncio dá lugar a várias interpretações. A primeira é a de suspense, que leva o ouvinte a visualizar a possível catástrofe, a sentir o impacto do drama, a sentir pavor. Como definiu Bruneau (1973), o silêncio é a língua de todas as fortes paixões, como o amor, a surpresa, o medo, a cólera. E, realmente, quando estamos apavorados, não conseguimos falar nada, ficamos literalmente mudos. Foi o que Orson Welles fez. Não podemos esquecer ainda que, no início da idade moderna, Pascal já havia apontado para o vínculo entre a sensação de medo e o silêncio do cosmos. “O silêncio eterno destes espaços infinitos me aterroriza”. (Pensées, 206) Para Serra (1998) “o que antes era inadmissível - o vazio infinito - agora se apresenta aos seres humanos de forma ameaçadora. Este vazio e seu silêncio são a exibição de um Universo no qual o homem já não teria mais papel central”. Voltando a Welles, o silêncio, nestes seis segundos, foi tão intenso que significou mais que os minutos anteriores de palavras e ruídos. O silêncio aí deu maior dimensão à tensão do texto e ao pavor sentido pelo ouvinte. O silêncio é o nada - em termos de som - e, por isso mesmo, é tudo - em termos de sentido, de emoção. A partir de Orlandi, reafirmo que para significar não é preciso falar. Balsebre esclarece que a informação estética se gera através de uma excitação sentimental no processo comunicativo, e esta guarda uma grande correlação com o simbólico e o conotativo. “ A utilização da música, dos efeitos sonoros e do silêncio na produção de enunciados significantes, como signos de uma determinada idéia expressiva ou narrativa, podem superar muitas vezes o próprio sentido simbólico e conotativo da palavra”. Quem sabe não foi exatamente neste trecho do programa que o pânico se generalizou entre um milhão dos seis milhões de ouvintes, que choraram, rezaram ou correram para as ruas, como registrou a estatística da época? Outra interpretação possível, neste mesmo trecho, é a que nos leva ao conceito de implícito (Ducrot, 1987). O implícito remete o dito como sugestão para o não-dito. Quando o clímax da batalha é interrompido pelo silêncio, podemos afirmar que Welles quis sugerir que os invasores destruíram tudo e dominaram a terra, desligando, inclusive, a própria emissora. Enfim, alguma coisa muito grave teria acontecido para nada mais se ouvir. O repórter fica impossibilitado de contar o que está ocorrendo no
chamado “palco de ação”, e o silêncio, aqui, pode significar a morte, o fim da história. O silêncio também pode significar exatamente o contrário. Ao deixar o Rádio sem som no clímax do drama e logo após um locutor dar sequência à programação com uma música que nada tem a ver com a cena apresentada anteriormente, Welles também poderia estar utilizando um recurso técnico para criar uma tensão entre o dito e o não-dito, de forma a persuadir o ouvinte a continuar ligado na emissora. É como se ele dissesse, através do silêncio, que algo ainda está por acontecer, mantendo o mistério no ar, pois a história não chegou ao fim. “Às vezes, para se dizer algo é preciso não dizer, já que uma palavra apaga necessariamente as outras”. Orlandi esclarece que “o ato de falar é o de separar, distinguir e, paradoxalmente, vislumbrar o silêncio e evitá-lo. Este gesto disciplina o significar, pois já é um projeto de sedentarização do sentido. A linguagem estabiliza o movimento dos sentidos”. O silêncio, ao contrário, intensifica as possibilidades do sentir. O silêncio, nesta passagem de A Guerra dos Mundos, suscita dúvidas, sensações e possibilidades diversas, abrindo espaço para que o ouvinte visualize o que quiser. É quando ele se torna sujeito interativo, interpretando e dando o sentido que lhe convier. Se o silêncio perdurasse neste momento do programa é possível que o pânico se instalasse de forma definitiva. Mas Welles introduz a música, que remete a uma re-interpretação. Totalmente fora do clima, a música reverte a situação dramática, relaxando a tensão criada pelo silêncio. Vale destacar que o formato jornalístico apresentado no programa deu determinado sentido ao silêncio. Pois em outras condições, como por exemplo, num formato humorístico, os seis segundos de silêncio teriam outro significado. Silêncio e Som, a dialética da linguagem Em outros momentos de A Guerra dos Mundos, o silêncio pontua a narração, produzindo cortes e recortes, assim como a “respiração”, o fôlego da significação, que precisa de um ritmo de ir e vir, entre palavras e pausas, para que a narração tenha sentido. A simbiose é tão perfeita que “parece que as palavras produzem silêncio e o silêncio fala por elas”. Orlandi classifica este silêncio como fundador, originário e constitutivo da própria linguagem verbal. No roteiro escrito, estas pausas são representadas por três pontos (...). No programa gravado, estes curtos silêncios dão emoção e portanto vida, verdade ao texto. Por exemplo, “posso ver saindo do buraco negro através de um disco luminoso, olhos que podem ser um rosto, podem ser...”. Estes três pontos do texto são responsáveis pela verossimilhança. Sem dúvida, se estivéssemos no lugar deste repórter espontâneamente também faríamos esta
pausa ou outras mais. Num momento de emoção, as palavras fogem, o raciocínio é lento e temos dificuldade para nos expressar. É a questão da incompletude da linguagem. Quando o repórter diz “podem ser (...)” e faz silêncio, ele estimula que o ouvinte complete a frase com sua fantasia. O não-dito neste trecho é mais importante do que o dito. O não-dito permite a criação e fortalece a imaginação do ouvinte. Este silêncio contribui para a percepção sonora, e percepção é o conhecimento sensorial completo de um objeto. Já Bruneau (1973) classifica o silêncio em duas categorias: silêncio psicolinguístico e silêncio interativo. O primeiro pode ser rápido (menos de dois segundos) e está associado ao desenvolvimento linear sequencial do material linguístico, como vacilações gramaticais ou para reduzir a velocidade do ritmo verbal. O de longa duração está vinculado aos processos semânticos de deciframento da mensagem, relacionados com os movimentos de organização e categorização de níveis da experiência e da memória. O silêncio interativo é aquele de longa duração ligado a relações afetivas que produzem emoção, conhecimento ou opinião. Em A Guerra dos Mundos, a pausa rápida dá a sensação de que o texto não está sendo lido e, sim, dito de improviso. É como se o personagem estivesse pensando o que vai dizer. Por exemplo, no trecho “tem o diâmetro de um ... um...o que o senhor diria, professor Pearson? “Ou quando o Professor faz um pequeno silêncio antes de responder “eu não posso explicar”, ao ser questionado sobre as erupções gasosas. É o silêncio psicolinguístico defendido por Bruneau. Outro exemplo é o silêncio que compõe a diferença de ritmos entre os personagens, como no trecho em que o repórter entrevista o dono da fazenda. Os rápidos silêncios do Sr. Wilmot possibitam que o ouvinte “veja” como o fazendeiro realmente está disperso e perceba os diferentes ritmos biológicos internos entre o entrevistado (mais lento) e o entrevistador (mais rápido). “W. - Bem, eu estava escutando o rádio... P. - Mais alto, por favor. Mais perto. W. - Eu estava escutando o rádio e estava meio sonolento. Aquele tal professor estava falando sobre Marte e eu estava meio...” O silêncio também contribui para criar expectativa. O locutor, depois da tragédia ter ocorrido, diz que está sem contato com a região, mas assim que for possível “voltará ao local”. Há uma rápida pausa, ele volta a falar “um momento por favor”, e há outro silêncio, de quatro segundos. É o espaço para a curiosidade ser aguçada - por que o locutor pediu um momento? O que aconteceu? Depois, ele volta com a notícia de que o professor foi localizado num posto de emergência e a história continua.
Este silêncio de quatro segundos poderia ser considerado interativo, funcionando como um espaço de transição entre situações contrárias. O mistério das palavras “um momento por favor” perdura durante o silêncio para ser substituído pela tranquilidade de terem encontrado o professor. A sensação é de que o coração do ouvinte parou durante os quatro segundos de silêncio. É como se o tempo real representasse muitos anos do tempo psicológico, aquele que dá vazão à angústia e ao sofrimento do ouvinte. Em muitos outros momentos de A Guerra dos Mundos, o silêncio funciona como se fosse uma cortina de um palco, um espaço para troca de cenário ou de assunto, contribuindo para a construção e desconstrução de imagens mentais, formando planos diferentes de ação. Um exemplo é quando o repórter relembra aos ouvintes que está entrevistando o professor no observatório, em Nova Jersey, e que a partir daquele momento iria retornar para o estúdio, em Nova York. Há uma pausa, entra uma música de piano e um locutor que lê um boletim de notícias. Por último, gostaria de lembrar que se não houvesse silêncio, tudo seria ruído. Linguisticamente, a palavra se expressa em sequências de signos constituídos em unidades “silêncio/ som / silêncio”. O som e o silêncio definem de maneira interdependente um mesmo sistema semiótico: a linguagem verbal. E antes de ser palavra, todo sentido já foi silêncio. Cunha (1982) defende que o silêncio questiona e leva o homem a buscar sua essência, constituindo o fator mais apurado da comunicação, pois comunica o próprio ser. “Somente o silêncio, força originária, potência criadora, possui elementos para integrar o homem, emprestando-lhe autenticidade”. Conclusão: Este trabalho defende o silêncio em A Guerra dos Mundos como, fundamentalmente, o lugar de interpretação do ouvinte. Em termos teóricos, seria o silêncio como espaço de heterogeneidade enunciativa. Este conceito, defendido por Authier (1980), abrange, entre outras, a dimensão dialógica da linguagem (na concepção de Bakhtin). Authier aponta que um autor, ao construir seu texto; marca - de forma aparente ou não - o lugar do outro, no caso o seu interlocutor em potencial. Exemplos de heterogeneidades enunciativas são o uso de aspas, itálico, grifo; enquanto formas mostradas e unívocas; e a ironia, o humor, a imitação, enquanto formas não-mostradas, constitutivas do dizer. Ao apresentar o silêncio como uma ruptura que deixa ao ouvinte o lugar de coautor da narrativa, este trabalho define também o silêncio no âmbito da heterogeneidade enunciativa.
Num veículo como o Rádio, que transmite várias vozes, o silêncio pode ser considerado, em determinados casos, como a voz silente do ouvintereceptor. O grande mérito de Welles no programa foi ter captado o clima de eminência de uma guerra, que fazia parte da vida de todos, em 1938. Nervosos e inseguros, muitos americanos tiveram uma reação de desequilíbrio emocional. E os diversos espaços de silêncio de A Guerra dos Mundos abriram possibilidades de expressão para o mecanismo inconsciente dos ouvintes, como se fosse a voz interior de cada receptor. Bibliografia: AUTHIER, Jacqueline. “Heterogeneidades enunciativas”. In: Cadernos de Estudo de Linguística, Campinas, (19): 25-42, jul/ dez. 1990. BALSEBRE, Armand. El Lenguaje Radiofónico, Madrid: Cátedra, 1994 BRUNEAU, Thomas J. “Le silence dans la communication”. In: Revista Communication et langages, 4° trimestre, págs. 5-14, 1973 CUNHA, Dalva. Silêncio, a Comunicação do Ser, Petrópolis: Vozes, 1982 DUCROT, O. O Dizer e o Dito. São Paulo, Pontes, 1987 FOUCAULT, M. A arqueologia do saber, Petrópolis, Vozes, 1972 ORLANDI, Eni Puccinelli. As Formas do Silêncio, Campinas, Unicamp, 1995 ORLANDI, Eni Puccinelli, “Efeitos do verbal sobre o não-verbal”. Encontro Internacional da Interação entre Linguagem verbal e não-verbal, Brasília, março,1993 PORTO, Regina, “A Poética do Som: Utopia e Constelações”. In: Rádio Nova, número dois, Rio de Janeiro, UFRJ, págs. 15-25, 1996 SERRA, Antonio A. ,”Breve nota sobre o “Cosmos fechado” e o “Universo infinito”, manuscrito, Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 1998 SGANZERLA, Rogério. O Pensamento Vivo de Orson Wells, São Paulo,Martin Claret,1986 SOUZA, Tânia Conceição Clemente, “Discurso e Imagem: perspectivas de análise do não-verbal”, Comunicação do II Colóquio de Análises do Discurso, Buenos Aires, Universidade de Filosofia, 1997 ZAREMBA, Lilian e Bentes, Ivana. Rádio Nova, Constelações da Radiofonia Contemporânea, número um, Rio de Janeiro, UFRJ, 1996
5. Quando música e discurso geram caos A música foi um componente fundamental na construção do discurso de A Guerra dos Mundos. O diretor musical Bernard Hermann contribuiu para gerar o clima emocional do programa, através de melodias selecionadas para contrapor o mundo habitual dos ouvintes com o inusitado da invasão alienígena.
por Hugo Vela Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria. Produz e apresenta o programa "Pense e Dance: Som e Ritmo da América Latina" na Rádio da UFSM.
Introdução Na história do Rádio, o programa A Guerra dos Mundos, produzido e apresentado por Orson Welles e a companhia de teatro e rádio, Mercury Theatre, no dia domingo 30 de Outubro de 1938 - dia das bruxas - através da CBS (Columbia Broadcasting System), é certamente, nos últimos 60 anos, o fato mais significativo na materialização das relações entre emissores e receptores, evidenciadas através de uma série de manifestações de ordem psicológica, educacional, informativa, comunicacional, musical, e cultural, no sentido mais genérico do termo, por parte dos ouvintes, como resposta ao programa apresentado. De um lado, está o Rádio, como veículo de comunicação, e como invenção tecnológica, e de outro, os ouvintes, o público, com seus condicionamentos derivados do imaginário social popular, com variáveis de ordem material, intelectual e espiritual. A dinâmica e genialidade de Welles o tinham levado a ser locutor, diretor e roteirista na CBS de New York desde 1937. No ano seguinte dirige e apresenta seu próprio programa semanal - Teatro Mercúrio no Ar - , com duração de uma hora. Welles desfrutava de tanta liberdade para exercitar sua capacidade criativa que ali realizou um série de valiosas experiências no que se chamou de rádio-arte. Foram 17 peças de ficção, adaptadas para rádio, desde a origem do programa até a apresentação de A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos é apresentada para os ouvintes, propositadamente, de uma maneira ambígua, surrealista, procurando, pela mistura entre ficção, utopia e realidade, um ataque de naves vindas do planeta Marte, a destruir a humanidade. Embora o programa comece com a mesma vinheta do Teatro Mercúrio no Ar, dessa vez, a apresentação do episódio se transforma na introdução mesma, a um suposto noticiário sobre a invasão dos marcianos, não dando margem, principalmente para os que ligaram a rádio alguns minutos depois do início do programa, de verificar, ao menos os mais apressados, que se tratava apenas da apresentação radiofônica de uma história de ficção. Calcula-se que dos 6 Milhões de ouvintes que estavam ligados na CBS, ao menos um milhão entraram em pânico, e foram vários meses de desmentidos e demandas contra o programa e a CBS, pelos transtornos que a invasão dos marcianos ocasionou entre diferentes segmentos sociais. No dia das bruxas de 1938, enquanto o Teatro Mercúrio no Ar dramatizava em discurso, som e ritmo, um ataque fulminante dos marcianos sobre os humanos, milhares de norteamericanos corriam desesperados procurando refúgio, choravam e se despediam de seus entes queridos, ficavam imobilizados, ou corriam para certificar-se da verdade. Alheio, até então, da dimensão do seu ensaio, Welles finaliza o programa dizendo: Amigos, espero não lhes tenhamos alarmado! Trata-se apenas de um ensaio radiofônico! (1). A partir de então, durante 60 ou mais anos, se poderão
encontrar sempre aspectos a serem estudados no processo desencadeado por, “apenas” um roteiro radiofônico. Nesse estudo, se procura correlacionar o discurso e a música de A Guerra dos Mundos, com o imaginário social popular, evidenciando a virtualidade na rádio da época, pela dramatização da mensagem musical e falada. Vários estudos foram realizados durante os últimos anos, por psicólogos, sociólogos, comunicadores e teatrólogos, entre outros, sobre os fatos provocados pela apresentação de A Guerra dos Mundos no rádio norteamericano, mas resulta interessante observar que a integralidade na comunicação, musical e falada, daquela peça, com o contexto do imaginário social popular, ainda oferece espaços para outros enfoques e novas dimensões nos estudos da comunicação. A integralidade a que nos referimos começa desde a harmoniosa combinação das diferentes personalidades que compunham o Mercury Theatre, a adaptação de A Guerra dos Mundos, e o contexto do imaginário social popular. É óbvio que a perfeita interpretação de todos os participantes - músicos e atores - produziu o resultado realista que pretenderam imprimir em sua apresentação, mas a trama parte originalmente do diretor do programa, Orson Welles, que associado ao diretor musical Bernard Hermann, conseguem fazer sentir, numa parcela não desprezível dos cidadãos norte-americanos, a fúria dos marcianos. Nesse contexto, partindo da audição da fita com a gravação do programa radiofônico, e da leitura do script, procurar-se-á observar não apenas os fatos provocados e desencadeados no passado, a raiz de tal programa, como também o seu significado para o presente da sociedade humana, pelo estudo das relações entre discurso, música, e imaginário social popular. O enfoque teórico procurado é a Análise de Discurso, incluindo, nesse caso, não apenas o texto e sua expressão, mas também a música como linguagem e objeto de estudo discursivo, com base no princípio de ser a Comunicação Social, antes de tudo, a totalidade das atuações mútuas dotadas de função sígnica ou simbólica (2). Sabe-se que a fundação de significações e de instituições somente se materializa pelo Imaginário Social, pela interação dos indivíduos socialmente estabelecidos, por isso, o discurso é tomado como efeito de sentido entre os interlocutores, procurando nele um lugar para a leitura das significações imaginárias e procurando indícios reveladores do sentido que cada grupo social atribui a suas vivências. Por outro lado, a Análise de Discurso permite deslocamentos importantes dentro de espaços já disciplinados pelas Ciências Sociais, tais como as noções de linguagem, sujeito, sentido, de sons e ritmos como linguagem musical, possibilitando compreender como o discurso produz sentido, pela explicitação ideológica que o sustenta. Parte-se então, da idéia de que a linguagem é determinada pelo exterior, isto é, tem determinação social-histórica.
Sendo o sistema significante fornecido pela linguagem aos indivíduos, resultado de sua produção social-histórica, esta também participa na produção dos sentidos, isto por que, conforme observa Orlandi (3), sem história não há sentido, ou seja, é a inscrição da história na língua que faz com que ela signifique. Daí os efeitos entre locutores. E, em contrapartida, a dimensão simbólica dos fatos. E é esse trabalho da linguagem que permite a apreensão do mundo no discurso, possibilitando também, o acesso ao Imaginário Social através deste. Com tais pressupostos, o discurso, musical e falado, na história de A Guerra dos Mundos, não é lido como uma sucessão de fatos com sentidos já dados, o que interessa é o modo como são trabalhados esses fatos através da ideologia na obtenção de determinados efeitos de sentidos. Isto é, o realismo fantástico e virtual procurado, e alcançado. Os Magos Tanto Welles, como Hermann, tinham preferência pela aventura, pelo ensaio, pela experimentação, ambos parecem ter trabalhado ansiosamente por produzir, efetivamente, no discurso e na música, um instrumento para a materialização de utopias, ou histórias de ficção, junto a seu público. Existe tanta ambigüidade nas produções radiofônicas de Welles quanto nas trilhas sonoras de Hermann, embora ambos viessem de mundos e experiências separadas. Welles acreditava na magia, sua celebridade vinha desde seus exercícios ilusionistas na infância. Ainda em 1942, depois da tentativa frustrada de levar 5 homens de jangada numa aventura marítima no Brasil, voltou aos EUA dizendo que o fracasso se devia a uma maldição de macumbeiros negros. Parece que os norte-americanos acreditaram, pois somente ficaram sabendo, anos mais tarde, que era “mentira” de Welles, pelo desmentido de seu assistente, Dick Willson. Essa visão mágica, espetacular para a época de A Guerra dos Mundos, o levou da demissão da CBS e à contratação em Hollywood. Hermann tinha produzido, junto com Alfred Hitchcock, Psicose nos espectadores. Welles já havia apresentado no seu programa Drácula, de Bram Stoker. A música, utilizada para reforçar o discurso num convite à aventura e emoção haviam sido exercitados por ambos em outras peças do Teatro Mercúrio no Ar, como a Ilha do Tesouro, de Louis Stevenson, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e A Volta ao Mundo em Oitenta Dias, de Júlio Verne. Ambos conheciam o suspense: Hermann compôs a trilha sonora do filme Cidadão Kane, do próprio Welles, e apresentaram na rádio Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. O som, o ritmo e a autoridade estiveram presentes em Julius Caesar, de Shakespeare. Essa experiência está presente em A Guerra dos Mundos. É isso que a música, o som, o ritmo e o discurso falado de A Guerra dos Mundos
provocaram em bom número dos ouvintes do programa. Suspense, psicose, pânico, curiosidade, desejo de aventura. Como por encantamento mágico, os apresentadores do Teatro Mercúrio levaram alguns ouvintes a viver a triste fantasia do ataque marciano. A magia Contudo, é interessante observar nesse caso, que nem o enredo nem a música foram totalmente originais em ambos os intelectuais, de teatro, e de música. A idéia e muitos diálogos de A Guerra dos Mundos vieram do romance de H.G. Wells, e a música veio de diferentes autores, incluindo partes próprias. Aos sons de Hermann, se misturam com a música de Stardust, e dos argentinos M. Rodriguez e P. Contursi. Embora a música pareça pouca e se resuma mais à introdução do clima de invasão, deixando os sons e o silêncio para o desenvolvimento da tragédia, culminando com um som e ritmo de melancolia, que contrasta com o desmentido da história apresentada, é suficiente para permitir a construção do momento mágico provocado pela notícia do ataque marciano. O êxito do resultado esperado se produz desde a introdução, pela articulação de diálogos paralelos desencontrados e com diferentes assuntos, em diferentes ambientes, intercalados por música e mais tarde por sons que confluem na construção do primeiro episódio da rádio virtual: O incentivo dado ao imaginário popular levou os ouvintes a viverem e sentirem a invasão da Terra pelos marcianos. A integralidade do fato reside também na maneira realista em que esses diálogos são expressos aparentando não ter qualquer relação com a música. Welles leu e interpretou Shakespeare em suas experiências no Teatro. Ele foi seu mestre e escola, como ele mesmo diz: Aprendi a ler em Shakespeare (4). Por tal razão conhecia o pensamento desse autor sobre a utilidade da música: ...prestar auxílio a mentes enfermas, arrancar da memória uma tristeza arraigada/Arrasar as ansiedades escritas no cérebro/ E com o seu doce e esquecedor antídoto/limpar o seio de todas as matérias perigosas/Que pesam sobre o coração (5). É exatamente isto que propõe o discurso, e a música de A Guerra dos Mundos, aparentemente descompromissada ao princípio, indispensavelmente condicionante na seqüência, “arrasar as ansiedades escritas no cérebro” do imaginário popular em relação ao tempo, ao espaço, o mundo sideral e à segurança humana. E assim, “limpar o seio de todas as matérias perigosas”. Para consegui-lo, a música e a entonação, a projeção, articulação, afinação e outras qualidades da palavras, deverão estar em perfeita combinação realista, a ponto de levar ouvintes ao desespero. Lilian Zaremba, estudando as noções de ‘voz de autoridade' e ‘voz signo’ no “Labirinto Auditivo de Guerra dos Mundos” conclui sobre algumas qualidades expressivas na voz de Orson Welles, que apontam marcas como
a projeção e articulação nítida das palavras, entonação flexível, afinação firme, interpretação como força e potência (6):Sem dúvida, a voz xamânica de Orson Welles - diz a autora - encerra características de ‘voz de autoridade’....mas escapa de suas limitações autoritárias ao se colocar como veículo de interrogação, no luxo do imaginário, perdido em meio às verdades inquestionáveis do Mundo (7). Os diálogos, falas e ações de autoridades científicas, militares, jornalísticas junto com as verdades incontestáveis da paz celestial são colocados em dúvida pelos seus postulados frente a uma multidão imaginária criada através de sons, ruídos, gritos, lamentos, choros, alarmes e barulhos de naves marcianas que provocaram nos ouvintes o resultado esperado, a aceitação virtual do ataque extraterrestre. Nesse contexto, a música de Guerra dos Mundos, ou melhor, a composição realizada de diferentes trechos de outras músicas faz a contrapartida ao discurso para gerar, desde a introdução, as diferentes emoções, pensamentos e ações que levarão ao desespero os ouvintes menos avisados. De um lado, as falas iniciais preparam a curiosidade do ouvinte sobre a vida extraterrestre e os conhecimentos sobre o planeta Marte, desde um observatório científico, pela entrevista com um reconhecido astrônomo Prof. Pearson -, ao mesmo tempo em que procuram colocar o pensamento do ouvinte no espaço, o enviam imediatamente para um salão de festas no Hotel Park Plaza de New York, onde a orquestra de Raymond Raquello está tocando uma música espanhola. Terminado o som tipo espanhol o locutor da rádio apresenta a orquestra e o diretor, que começa a tocar uma música por demais conhecida e popular no continente americano, o tango de Rodrigues e Contursi; La Cumparsita. Interpretada no som e ritmo do Danzon, estilo musical caribenho em pleno desenvolvimento nas primeiras décadas desse século. Tal fato prende o ouvinte, não somente pelo gosto com tal música, apreciada por jovens e velhos, como também pelo que o astrônomo tem a dizer sobre o espaço e o planeta Marte. A seguir, a música é interrompida e, na forma de um - última hora - é noticiado que aproximadamente 20 minutos atrás, de acordo com o prof. Fowl, do observatório de Mount Gannings, em Chicago, se observaram distúrbios incandescentes no céu daquele estado. Terminado o primeiro impulso para o alerta, a música continua, na tentativa de mostrar que tal fato é isolado, e que a tranquilidade permanece no salão Meridian do Hotel Park Plaza e no resto da comunidade. Assim os estilos e as músicas escolhidas para introduzir a cobertura jornalística da invasão marciana servem para contrastar com as informações, numa combinação que gera climas de curiosidade, tranquilidade e descontração, que paulatinamente, associados com os diálogos intercalados agora com música de violinos para orquestra como em Stardust, e o som do piano de Hermann, vão se transformando em preocupações e aflições. E a
partir de então, a música, que num primeiro momento tem a finalidade de uma pretensa distração do ouvinte para notícias não agradáveis, sem se observar a brusca mudança se transforma em sons, ritmos e ruídos angustiantes que levam, por parte de alguns ouvintes, à indubitável invasão dos marcianos sobre a Terra. É por demais sabido, desde a antigüidade, o papel da música na criação e construção de comportamentos sociais, e no caso da Guerra dos Mundos, apesar dela ser pouca, tal fato foi suficientemente explorado. Tão reais e abertas ao uso prático são as influências psicológicas da música que a arte tem sido empregada, no transcorrer do tempo, na produção de efeitos emocionais e mentais que Aristóteles escreveu: ... emoções de toda espécie são produzidas pela melodia e pelo rítmo; através da música, por conseguinte, o homem se acostuma a experimentar as emoções certas; tem a música, portanto, o poder.... de produzir emoções e sentimentos na direção da melancolia...efeminação...renúncia, domínio de se...entusiasmo, e assim por diante, através de série. (8) A experiência profissional do adaptador da obra e do diretor da orquestra não deixam duvidas sobre seu conhecimento a respeito da influência da palavra e da música, no comportamento humano, e o utilizaram para imprimir na peça um verdadeiro realismo fantástico, para os padrões tecnológicos e informativos dos MCM de então. Uma boa parcela dos aproximados 6 milhões de ouvintes da CBS nos EUA sentiram emoções, sentimentos e tipos de comportamento diversificados por uma bem articulada trama do discurso falado com a música. Embora não se possa dizer que Orson Welles tivesse condições de prever a dimensão do caos provocado na sociedade norte-americana, a audição da fita do programa e a leitura do script não deixam duvidas da intenção de um escritor, diretor e apresentador de radioteatro, de ser o mais profissional possível, isto é, fazer com que seu programa se torne real, que o ouvinte experimente, em pensamento e emoção, uma história clássica como em Julius Caesar, ou uma ficção, como em A Guerra dos Mundos. Por outro lado, há nesse programa uma clara intenção de falta de clareza, de confundir o ouvinte, misturando diálogos e manifestações reais e fictícias com músicas também reais e sons e ritmos também fictícios. A intenção de despistar o ouvinte desde a introdução é muito clara. Analisando o estrago causado pela invasão dos marcianos, Welles declarou, em entrevista conhecida pelos meios de comunicação, anos mais tarde, que em qualquer outro lugar do mundo teria sido preso, mas, por estar nos EUA, foi contratado por Hollywood.(9) Nesse contexto, se numa análise superficial, a música pode parecer pouca ou desprezível, a mesma está na dose certa para provocar os efeitos esperados, magistralmente articulada com trechos de músicas que convidam à diversão, ao prazer da dança em requintados salões como o do Hotel Plaza
Park, ou do piano na calmaria de um jardim, preparando o estado de percepção e sensibilidade que tem uma pessoa sem maiores preocupações no imediato, para então introduzir o som e o silêncio que unirá os diferentes momentos do discurso sobre a invasão marciana. Os sons e ritmos que marcam o compasso da história, quando o conhecido e prazeroso escutar La Cumparsita cede lugar para o barulho dos motores das naves marcianas, e as informações científicas seguras sobre a inexistência de vida em Marte dadas pelo Prof. Pearson se tornam os gritos dos primeiros humanos atingidos, o Teatro Mercúrio no Ar e a orquestra que lhe acompanha, não somente experimenta a rádio virtual, como também aproveita os espaços abertos na chamada revolução musical das primeiras décadas desse século. A revolução musical que conduziu do romantismo do século XIX à chamada “nova música” do século XX, cujo eixo central esta sustentado na revolução tecnológica, levou o pensamento criativo de Hermann a realizar a composição musical de Guerra dos Mundos, incorporando, para além das músicas citadas, uma série de sons e ritmos que vão desde o tic e tac de um relógio até o barulho de um motor de nave marciana, passando por tiros de armas de fogo, sirenes e funcionamentos de veículos militares. Com isso, Welles e Hermann não somente revolucionam conceitos musicais, como também conseguem sintetizar a dialética impressionista-expressionista nas composições orquestrais da época. À natureza temporal, hedonista do impresionismo, de tranquilidade e familiaridade provocado pela introdução da vinheta já conhecida do programa, e das músicas em moda no salão do Plaza Park, contrapõe-se o anti-romantismo do expressionismo dos sons e ritmos da invasão, que negam qualquer sentimento, procura um novo comportamento estético no estágio mental da suspensão emocional que antecede a histeria coletiva dos ouvintes. O encantamento do imaginário popular Esse estágio de suspensão emocional que antecede o desenrolar de uma alarmante combinação de sentimentos e preocupações, depois de uma notícia de impacto, como por exemplo, ouvir pela rádio os gritos do primeiro humano atingido pela arma mortífera dos marcianos e no fundo, o som da nave recém pousada, o som do raio elétrico, e acreditar que é preciso fazer algo, para salvar-se ante tal iminência está por demais condicionado ao Imaginário Social. Entendido este, como o define Cornelius Castoriadis: Uma criação incessante e esencialmente indeterminada (social-históricapsíquica) de figuras/formas/imagens, e somente a partir destas é que se pode tratar de algo...realidade e racionalidade são obras dessa criação (10). Com tal pressuposto, é possível identificar, do conjunto todo, o imaginário social popular, isto é, aquele construído e formado por segmentos sociais não eruditos ou especialistas em quaisquer áreas do conhecimento,
civis ou militares. Nascido da vivência histórica do fazer e o pensar do povo. E nele, especificamente, verificar quais as fontes de informação que prepararam o ambiente para a virtualidade do encantamento que levou alguns norte-americanos ao desespero. Os estudos do Prof. Hadley Cantril, diretor do Instituto de Pesquisas de Opinião Pública na Universidade de Princeton, na época do episódio, mostraram que os segmentos sociais com baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo e falta de perspectivas de vida, devido à instabilidade econômica que se vivia na época, foram variáveis fundamentais no comportamento mostrado pelos indivíduos ante a notícia da invasão marciana. Indivíduos com maiores níveis de escolarização tinham desenvolvido juízos mais generalizados sobre suas observações e terminaram descobrindo que se tratava de uma simulação. O contrário aconteceu com indivíduos que sequer possuíam juízos para questionar o assunto. A falta de senso crítico foi apontada como uma, se não a principal causa do acontecimento.(11) Este fato, tampouco se pode dizer que era desconhecido dos autores, e aqui está outro ponto a favor do seu profissionalismo, pois, ao procurar misturar depoimentos e manifestações de autoridades reconhecidas, científicas, civis e militares, não somente tencionavam dar realismo à peça, como também confundir o público que não está acostumado a duvidar de um secretário de Estado quando este fala para a nação, ou de um cientista que fala do que está observando ao telescópio, como também, o boletim meteorológico era o real. Assim, as interrupções dos repórteres do Teatro Mercúrio no Ar, para noticiar primeiro as anomalias no céu de Chicago e mais tarde as informações do Canadá sobre bolas de fogo caindo, pareceram mais do que reais, uma vez que, em momento algum, se avisa o ouvinte de que se deixará a programação normal, nesse caso, da transmissão musical desde o salão do Plaza Park, para passar à cobertura da invasão dos marcianos. Nesse contexto, para uma boa parcela dos ouvintes da CBS, a própria rádio como invenção tecnológica era algo fantástico, pouco mais de quatro décadas haviam passado desde que Marconi, em 1897, transmitiu uma mensagem, sem fio, para Branly, seu colega de pesquisas, a uma distância de 16 Km. É bem certo que a invenção se popularizou rápido, mas levou mais de duas décadas para fazer parte da maioria dos lares, portanto, o Rádio, na época de A Guerra dos Mundos, é ainda uma descoberta recente. Ela não somente é extraordinária, porque permite saber o que acontece de longas distâncias, como também é capaz, pela sua simplicidade na aparelhagem de transmissão, de estar nos mais diversificados lugares ao mesmo tempo, e é isto um dos principais fatores que lhe outorgam credibilidade no imaginário popular. Ele é ainda a fonte mais barata e mais próxima de informação, lazer e entretenimento nos segmentos populares. É por ele e através dele que fica
sabendo sobre a guerra, a economia e o emprego, os resultados do futebol e curiosidades sobre o Espaço. Uma outra evidência que demonstra o que chamo de integralidade do fato, é que dificilmente, na atualidade, os ouvintes tomariam as mesmas atitudes ante a transmissão do mesmo programa, a historicidade na construção do imaginário social e o desenvolvimento tecnológico nos MCM, cada vez mais interativos tendem a estabelecer juízos críticos generalizados capazes de relativizar as informações sobre um dado fenômeno. Muito embora, sem qualquer evidência, exista uma associação mundial de ufólogos. É possível, através do discurso de Guerra dos Mundos, observar a fragilidade no imaginário popular no referente ao espaço sideral e sua sobrevivência. As informações sobre o Espaço eram poucas. A viagem à Lua era apenas o livro de ficção de Júlio Verne e as idéias oficiais eram sigilosas. Por outro lado, pode-se pressupor que, se os ouvintes acompanhavam ou acompanharam as apresentações do Teatro Mercúrio durante as 17 apresentações, estavam familiarizados com o clima virtual do programa. A virtualidade reside no fato de que é preciso um bom esforço mental para poder imaginar, viver e gostar, através de música, sons e falas, As aventuras do Conde de Monte Cristo, o tenebroso de Drácula, as charadas de Sherlock Holmes, e a fantasia de se imaginar dando A Volta ao Mundo em Oitenta Dias, até o dia em que não houve tempo para diferenciar a ficção da realidade por que os marcianos estavam ali, bem perto de casa. Ao final, não existia ainda, generalizada ao nível dos setores populares, a tela pequena dentro de um aparelho que permitisse observar a distância entre fato e observador. A primeira autorização para emissões públicas na TV foi dada pelo ministro francês das comunicações Georges Mandel, em 1935. Apenas 3 anos antes de A Guerra dos Mundos. E muito mais distantes, estavam os jogos virtuais com aparelhos especializados como na atualidade. Assim, a comunicação discursiva e musical de A Guerra dos Mundos e seu impacto na realidade teve seu primeiro estágio de virtualidade no interior dos ouvintes menos informados. Que figuras, formas, sons e imagens existiam no imaginário popular a respeito do Espaço Sideral? Muito poucas, até mesmo ao nível científico, os dados que o Prof. Pearson fala sobre Marte - na peça - eram corretos para a época. Atualmente, tanto nos meios de comunicação por assinatura ou abertos, transmitem, cotidianamente, informações e programas sobre o Espaço. E as descobertas do Hubble são noticiadas em cadeia pelos mais diferenciados tipos de programas. A composição dos planetas e do Sistema Solar é bem mais conhecida que então, o homem não somente pisou na Lua, como vive no espaço na primeira estação espacial. Por outro lado, os programas de TV que contribuíram, em muito, para a formação de um imaginário social popular em relação ao Espaço e seus habitantes, com figuras, formas, sons e imagens, permitindo também o desenvolvimento de
uma espécie de senso crítico, ainda não existiam. 20 anos mais tarde mais tarde após a apresentação de A Guerra dos Mundos, se continuava escutando La Cumparsita, mas apareceu Flash Gordon, e depois Perdidos no Espaço, Meu Marciano Preferido, Terra de Gigantes, Viagem às Estrelas e com tecnologias mais desenvolvidas a própria filmagem, para o cinema, da obra de ficção que originou a peça radiofônica. Dirigida e produzida por Byron Haskin, com música de Leith Stevens. Nesse contexto, a música, o som e os ritmos de A Guerra dos Mundos adquirem maior destaque no conjunto integral do fato, entre rádio e ouvintes, uma vez que foi capaz, não somente de permitir o desenvolvimento da imaginação, a partir de precárias informações ou conhecimentos de figuras, formas ou sons relacionados com o espaço ou com espaçonaves. Foi preciso imaginar, e criar, sons e ritmos completamente distintos aos dos motores conhecidos até então, assim como imaginar que intensidade teria o ritmo do som de uma arma marciana, completamente diferente do som das armas conhecidas. O repórter descreve a nave marciana no lugar dos fatos, procurando elementos conhecidos para que os ouvintes imaginem o desconhecido, a nave marciana é arredondada e parece ser de ferro, com uma porta na forma de parafuso, por onde sai uma arma na forma de periscópio. O ouvinte idealiza a nave a partir de elementos conhecidos. Mas o som daquelas coisas desconhecidas é totalmente diferente do conhecido, daí o maior realismo. Não havia por que duvidar, pois Temos tanta fé na rádio! - diz uma ouvinte ao Prof. Cantril - Em um momento de crises, tem de chegar a todos. Para isso é a rádio. O locutor não disse que isso não era verdade...(12) Sobre essas bases parece bastante provável, que tipos diferentes de música, ao dar-nos várias espécies de experiências emocionais, romantismo, religiosidade, euforia, fervor patriótico, revolta, entre outras, codifica tais sentimentos em várias tonalidades e, por outro lado, a música ou os sons e ritmos que nunca ouvimos antes, e agora ouvimos pela primeira vez, pode abrir nossas mentes para um sentimento ou modo de enxergar o mundo inteiramente novo, e é isto o que aconteceu com os ouvintes da A Guerra dos Mundos, ao escutar o barulho dos motores das naves marcianas e o som de suas armas, muito distantes do melodioso e conhecido ritmo de La Cumparsita, acreditaram estar efetivamente escutando a narrativa do fim da humanidade por alienígenas de Marte e assim, certamente A Guerra dos Mundos se transforma num dos fatos clássicos para os estudos da comunicação. Clássico por que por ser um fato integral, isto é, exato a sua época, perdura no tempo e no espaço. É através dos efeitos do imaginário, que produz tanto a transparência da linguagem, quanto a origem do sujeito e a evidência do sentido, que se processa uma ilusão referencial, isto é, a fantasia de que é possível uma relação direta entre mundo e linguagem, entre palavra e coisa, permitindo
assim, o fim momentâneo do trabalho simbólico das significações instituídas por cada sociedade, frutos do seu trabalho cultural e histórico, e abre espaços para novas significações. Nesse caso, a invasão marciana a partir de uma transmissão radiofônica, com todos os resultados da interpretação das novas significações. Este elo crucial entre o dizer da rádio, e o fazer de uma comunidade com toda sua “fé” sobre o mesmo, representa, para Mainguenau, o ponto cego do discurso, a evidência primeira que funda a crença (13). E aqui cabe se questionar: na atualidade, o imaginário social popular está o suficientemente racionalizado para executar ações e comportamentos em caso, não apenas das catástrofes ambientais que lhe acometem, como também espaciais. E qual o papel ou o que a rádio está fazendo para isso? Seja como for, é bom lembrar que hoje, as pesquisas mostram que 3 de cada 5 norte-americanos duvidam do que ouvem na rádio. Maior desenvolvimento do senso crítico? Ou medo de um novo encantamento no dia das bruxas? Referências Bibliográficas 1 - Ouvir gravação do programa, lado B da fita. 2 - A concepção da música como linguagem é detalhada, por Ernst F. Schurmann em A Música como Linguagem/Uma Abordagem Histórica. SP. CNPq - Brasiliense. 2a. Ed. 1990. 3 - Orlandi, E.P. Entremeio e Discurso. In Revista do Centro de Artes e Letras. Santa Maria, n. ½ v. 15/16, p 279 - 293. 1993/1994 4 - Apud SGANZERLA, R.(Org.), In O Pensamento Vivo de Orson Welles. SP. Martin Claret Editores. 1986 5 - Citado por David Tame em O Poder Oculto da Música. SP. Cultrix. 1984 p 158 6 - Zaremba, L. Orson Welles: O Labirinto Auditivo de Guerra dos Mundos. In Zaremba e Bentes (Orgs.) Rádio Nova, Constelações da Radiofonia Contemporânea. RJ. UFRJ/Publique. 1996 p 77 a 92. A citação é da página 81 7 - Ibid p 82 8 - Citado por Tame, Op cit p 19 9 - Entrevista apresentada no programa “Mentira”, do Marcia Peltier Pesquisa. Rede Manchete de TV. 10-03-1998. 10 - Castoriadis, C. La Constitución Imaginaria de la Sociedad. In Colombo, E. (Org.)El Imaginário Social. Buenos Aires. FUNPAC. 1989 p 29-69. A citação é da p. 29 11 - Veja-se, Hadley Cantril. La Invasión desde Marte. In Moragas. M.De. (Org.) Sociologia de la Comunicación de Masas. Estructura, Funciones y Efectos. Barcelona, Gustavo Gili. 1985, p 91 - 109 12 - Apud Cantril, Op cit p 96
13 - Maingueneau,D. Novas tendências em Análise de Discurso. Campinas,SP. Ed. UNICAP. 1993 p 70
6. Quem destrói o mundo é o ruído do rádio A informação de que um asteróide está prestes a se chocar com a terra poderia hoje causar o mesmo efeito que A Guerra dos Mundos em 1938? O poder de destruição não reside nos marcianos nem nos asteróides, mas no imaginário produzido pelo rádio, onde os efeitos sonoros desempenham um papel acessório mas fundamental para dar verossimilhança à narrativa.
por Carlos Eduardo Esch e Nélia Del Bianco Carlos Eduardo Esch é jornalista, Especialista em produção radiofônica, Mestre em Comunicação e Professor da Universidade de Brasília. Nélia Del Bianco é jornalista, Mestre em Comunicação, Professora da Universidade de Brasília e Coordenadora do GT Rádio da Intercom.
Imagine que você está dirigindo, escutando o rádio do seu automóvel ao voltar do trabalho sintonizado na emissora de sua preferência. Atento ao trânsito, você não está totalmente ligado ao que se fala no rádio. De repente algo lhe chama atenção. A programação normal é interrompida e um informe extraordinário tem início. A rádio informa que foi detectado por alguns observatórios astronômicos enormes corpos celestes vindo em nossa direção e que, por falhas de previsão e de cálculos dos cientistas, os asteróides se chocarão com a terra em apenas alguns minutos. Muito mais do que espanto, por certo você e qualquer outro de nós mortais tenderíamos a entrar imediatamente em pânico ao sentirmos a morte tão próxima. Continue imaginando que após um minuto do anúncio, o locutor da emissora chamaria os seus repórteres espalhados pela sua cidade, pelo Brasil e começaria a colocar no ar reportagens feitas diretamente das ruas que transmitissem todo o pânico vivido pelas pessoas e pelos próprios repórteres. Imediatamente, o locutor entraria em contato com um correspondente internacional que falaria direto de uma capital européia qualquer, distante apenas 40 quilômetros da região prevista para receber em pouco mais de um minuto o impacto do primeiro asteróide a se chocar com a terra. Tudo tenderia a acontecer de forma muito rápida, impelindo você a ficar ligado na emissora talvez pelos últimos minutos de sua vida. A transmissão do correspondente continua e todo o clima de tensão que se estabelece entre o locutor da rádio e o repórter na Europa cresce rapidamente e toma conta de você. O informe continua quando de repente o correspondente interrompe a sua narração e começa a descrever emocionado e detalhadamente a veloz aproximação do asteróide junto com toda uma série de gritos, buzinas, correrias e choros das pessoas que, como o repórter, estavam nas ruas vivendo um dia normal. A história continua e o repórter narra com desespero o impacto do corpo celeste nas proximidades da cidade que imediatamente começa a sentir os reflexos das conseqüências provocadas pelo desastre. Abruptamente a ligação telefônica é cortada. Num clima de perplexidade, o locutor da emissora e você ficam em silêncio. Logo após, com voz embargada, ele procura explicar novamente o que está acontecendo. Após tão dramática cena, o desespero toma conta de você que pára o carro, sai correndo aos berros pela rua e não tem tempo de ouvir a chamada para o comercial de um novo programa que radiofoniza contos de ficção científica. A existência dessa história parece loucura ou pura ficção inventada por dois loucos professores para falar da criação de imagens através do rádio e de seus efeitos sonoros. Talvez as duas coisas, porém, numa época em que o temor da existência de marcianos ou extraterrestres já não causa tanto impacto e que o medo das conseqüências de um possível choque de asteróides com a terra começa a povoar a nossa fértil imaginação coletiva e a alimentar os nossos temores, a narrativa que propomos não é de toda
inverossímil. Muito mais do que uma louca história, o cenário que acabamos de descrever poderia ser realmente transmitido pelo seu rádio e, criado com todos os ingredientes que proporcionariam a você e aos demais ouvintes uma forte sensação de realidade. Muito mais do que truques, a construção de um “cenário acústico” em uma peça radiofônica, envolve necessariamente a manipulação de diversos recursos de linguagem de nosso mágico veículo. Envolver o ouvinte na história narrada e fazê-lo “acreditar que ela é real” requer por certo, não apenas a manipulação de sons ou efeitos. Isso exige também que façamos uma prospecção pelo nosso universo imaginário e dos ouvintes, observando e descobrindo o leque de sentidos e significados perante coisas, comportamentos, atitudes, pontos de vista e pensamentos construídos e alimentados dia-a-dia em nosso contexto cultural. Talvez aí se justifique o caráter atual que pudesse envolver a escolha de um “assunto quente” como a queda de asteróides sobre a terra para o tema de um programa radiofônico ficcional. Afinal, as conseqüências devastadoras do choque de um corpo celeste de grandes dimensões com a terra, tem “desfilado” diante de nós através dos meios de comunicação. Da mesma forma, imagine que em uma noite do trigésimo dia do mês de outubro do ano de 1938, aproximadamente um milhão de pessoas também saíram de suas casas apavoradas ao ouvirem no seus rádios que o mundo estava sendo invadido e atacado por horripilantes criaturas vindas do planeta Marte. A morte descrita e ouvida por milhares de pessoas e o desespero ocasionado pelo sentimento de incapacidade de reagir ao inimigo mais poderoso, levou a centenas de milhares de americanos a acreditarem que estavam sendo verdadeiramente invadidos. E de certo modo a invasão ocorreu mas, não nos moldes e magnitudes de destruição imaginados pelos ouvintes. A verdadeira e fascinante ocupação alienígena ocorreu na imaginação das pessoas que acreditaram na história da chegada de marcianos ao nosso planeta narrada pelos atores do teatro Mercury na noite do dia das bruxas. Orson Welles, o jovem líder de tão poderosa invasão, tinha em sua frente de batalha alguns poucos mas eficientes “soldados”. O primeiro, sem dúvida alguma, era um roteiro adaptado bem construído, dinâmico e acima de tudo imagético pois, “transportava” o ouvinte não só para determinados lugares mas que também conseguiu, intencionalmente ou não, envolvê-lo em um clima crescente de medo que alcançou, inclusive, o pânico coletivo. Impossível não considerarmos que tal poder de mobilização alcançado com a transmissão de A Guerra dos Mundos, pôde revelar também a apreensão, ansiedade e angústia sentida pelas pessoas com o próprio clima belicoso reinante no final dos anos trinta. O segundo combatente, mas nem por isso menos importante, era um cuidadoso e inovador trabalho de utilização e criação de sons e efeitos na peça radiofônica. Trabalho que, devido a uma
boa interpretação conjugada com a construção de seqüências de imagens sonoras da suposta invasão em andamento, conferiu um impressionante e assustador grau de veracidade à transmissão que entraria para a história do rádio mundial. Ouvindo o passado no presente Quase sempre, quando avaliamos um acontecimento histórico, corremos o risco de produzir uma leitura que disseque-o sob a perspectiva de nosso tempo, confrontando-o com a nossa realidade e experiências adquiridas e, originando assim, avaliações pouco justas e apropriadas com fatos e personagens focalizados. No caso de Orson Welles e sua adaptação de A Guerra dos Mundos, não seria diferente. A radiofonização da obra do inglês H.G. Wells, realizada em 1938, se insere no contexto social e cultural norte-americano daquela época e apresenta peculiaridades técnicas e de linguagem que expressam o estágio de desenvolvimento apresentado pelo rádio de então. Nessa linha, os cuidados que tomamos ao analisar a transmissão realizada pela CBS, se justificam pela facilidade com que podemos avaliar o programa com o olhar carregado por mais sessenta anos de história. Por certo, que os recursos utilizados na transmissão realizada de Nova York, se não únicos ou primeiros, ficaram marcados pelo sentido da inovação e, acima de tudo, confirmaram o poder e a magia que envolvia e envolve o rádio e seus personagens, evidenciados pela repercussão pública originada do sentido de veracidade atribuído pelos ouvintes a transmissão. Ao escutarmos hoje a gravação de A Guerra dos Mundos não podemos esquecer de que estamos ouvindo-a com ouvidos “impregnados” por mais de sete décadas de avanços tecnológicos dos equipamentos de som e de descobertas na linguagem e nos formatos do rádio. É necessário um exercício de distanciamento de nossa própria realidade e que tentemos percebê-lo com os ouvidos do passado e não do presente. Dessa maneira, o risco de idealizarmos as escolhas técnicas mais apropriadas diante de nossas atuais referências de criação radiofônica tende a diminuir muito. Não devemos esquecer que o rádio é essencialmente a palavra, ou seja, é através dela, predominantemente, que se expressam descritivamente as idéias e imagens construídas diante da audiência. Porém, com o passar do tempo, a inventividade de seus produtores descobriu novas maneiras de incorporar à “palavra falada” novos elementos sonoros que comporiam mensagens e histórias. A partir de então, percebeu-se que os sons, aí incluídos ruídos ou efeitos, possuem a capacidade de personificar materialmente o espaço físico no qual se desenrolam situações e ações visualizadas acusticamente pelos ouvintes. Ampliou-se, assim, o poder de
sugestão visual e de capacidade de localização espaço-temporal de suas produções junto ao público. No caso de A Guerra dos Mundos, a utilização dos recursos de som e geração de efeitos teve, inicialmente, uma função acessória mas, nem por isso menos importante ou essencial para o seu sucesso. Nesse sentido, o acessória se justifica por considerarmos que a palavra, o texto e a sua interpretação e manipulação criativa deram o tom ao programa. Todos os ruídos, efeitos desempenharam ao mesmo tempo funções distintas, mas complementares que transitaram entre a capacidade de descrever e ambientar cenas e o seu poder de expressar atmosferas emocionais necessárias ao pleno envolvimento da audiência na história. Serviram pois, como um complemento a um roteiro criativo que manipula a palavra integrada a todos os recursos dramáticos e cênicos utilizados. Sperber (1980) e Kaplun (1978), em seus estudos sobre o veículo, nos dão elementos significativos para pensar as funções e usos de efeitos sonoros e ruídos na produção radiofônica. Ambos entendem que ruídos e efeitos corporificam o objeto que emana; são a prova da existência material de objetos, como também sinalizam determinado espaço, permitindo ao ouvinte fazer associações. Além da função descritiva ou ambiental, os ruídos sugerem uma atmosfera emocional de uma situação ou de um personagem, assim como a música. Podem ainda ter função narrativa, servindo de nexo para ligar uma cena a outra ou até mesmo serem apenas ornamentais para dar um colorido a trama. Independente do papel que desempenham, quando associados à palavra fazem surgir uma imagem do acontecimento real construída na mente através da ilusão que o rádio produz em nós. Ilusão que se estabelece pelo paradoxo: o rádio materializa situações reais, referenciadas pelo cotidiano, a partir da imitação e personificação. A representação do real pelos ruídos e efeitos se faz com tamanha força imaginativa que materializa uma ação que não se vê, percebida que é somente pelos ouvidos. Welles usou com maestria a própria idéia de ancorar a narrativa da história na transmissão, aparentemente normal, da programação da CBS. Essa opção incutiu em sua adaptação, um tom de realidade e veracidade que colaborou para que os ouvintes, que perderam os primeiros minutos de transmissão do Teatro Mercúrio, considerassem o programa como uma “transmissão radiofônica corriqueira”. Por isso, os sons e ruídos existentes em A Guerra dos Mundos ganharam um sentido acessório e complementar. De fato, os efeitos proporcionaram ao ouvinte elementos de composição cênica e dramatúrgica que permitiram despertar sua imaginação para compor personagens, seus comportamentos, ambientes em que atuam e o próprio clima emocional que vai envolvendo a história. Dessa maneira, ganharam importância a “visualização” de efeitos como o tic-tac de um relógio, na cena inicial, compondo o ambiente de um laboratório astronômico e
podendo também expressar, o mecanismo de funcionamento de um telescópio; bem como os sons eletrônicos e indefiníveis emanados da nave alienígena, os gritos, vozes, ventos e zumbidos que surgem em cenas passadas na fazenda imaginária de Grovers Mills, na qual a nave marciana aterrissara. Nem todos os efeitos e sons utilizados no programa de Welles tiveram primeiramente uma função ambiental. Na história radiofonizada, a construção de um roteiro que valorizou um clima crescente de suspense, permitiu que alguns dos efeitos utilizados assumissem, essencialmente, uma função expressiva, ou seja, compuseram o clima de tensão, de agitação e de medo contidos na história e vivenciados por seus personagens. Assim, vozes, gritos, sons de movimentação de carros, caminhões, canhões e aviões militares criaram a atmosfera que envolvia o ambiente da ação de combate aos extraterrestre. Proporcionaram, também, a sensação da emoção e da veracidade das cenas ao tornarem possível o “deslocamento imaginário” da audiência para os supostos cenários onde se desenrolaram as ações de seus personagens e narradores. Ainda no que diz respeito a funções desempenhadas pelos sons em A Guerra dos Mundos, a música e sua utilização teve um papel de conferir a necessária pontuação aos climas crescentes de tensão envolvidos na narração do repórter Carl Phillips. Assim, a música, a orquestra que a executa no ilusório Meridian Room do Hotel Park Plaza e os aplausos de uma suposta platéia de um musical transmitido pela CBS, proporcionaram abruptos e necessários cortes no desenrolar da história que lhe conferiram veracidade e proporcionaram tempos estratégicos para que a imaginação do ouvinte se abrisse a todas as imagens construídas e fosse assim, invadida pelas distintas emoções que os personagens imprimiam às suas falas. No entanto, muito mais do que as possíveis funções dos sons como um dos elementos da linguagem radiofônica, a produção e transmissão de A Guerra dos Mundos nos mostrou a ousadia e a inventividade de um grupo de profissionais que, sem dispor de recursos técnicos avançados, como os da atualidade, conseguiu com métodos artesanais a produção e a manipulação inovadora do som. Tais inovações anteciparam avanços de natureza técnica e de produção realizáveis somente com o desenvolvimento de equipamentos geradores de efeitos. Um bom exemplo foi a utilização dos planos de som. Naquela época, as transmissões radiofônicas eram realizadas em mono o que não conferia aos sons uma sensação de espacialidade, de profundidade e distanciamento. Com a utilização de planos, ou seja, de movimentações e distanciamentos diferentes diante dos microfones, Welles e sua equipe conseguiram “imprimir", em várias cenas, a sensação de amplitude necessária para bem localizar os personagens, suas movimentações e suas ações no jogo cênico construído para a história.
Muito mais do que desempenhar funções na trama, os ruídos e efeitos complementam o sentido da palavra e provocam sensações. Em O sentido do som, Leonardo de Sá (1991) explica que o som é sensação decorrente da percepção do aparelho auditivo, das ondas provocadas por um objeto em movimento vibratório. Não haveria sensação sonora se não houvesse um aparato orgânico que transformasse as vibrações em imagem mental, em imagem acústica. Para o autor, pensamos os sons a partir do que percebemos, e mais possibilidades sonoras imaginamos quanto mais tenhamos condições efetivas de vivenciar os seus meios, as suas fontes, os seus instrumentos. Ainda nessa linha de percepção, a expressão sonora dáse em condições nas quais as imagens sonoras vivenciadas compõem um conjunto de possibilidades que transitam pelo nosso imaginário e da própria cultura em que vivemos, espaço este criado e recriado pela nossa imaginação a medida em que vivemos e interagimos com a dinâmica social. É certo que percebemos somente os sons que são passíveis de serem traduzidos em imagens acústicas pelo aparelho auditivo. Também nos parece natural que busquemos referenciais para o que ouvimos no que já conhecemos, vivemos ou sentimos. No caso de A Guerra dos Mundos, os ruídos dão materialidade a espaços, objetos e situações na sua grande maioria ainda desconhecidos, sobre os quais os ouvintes de então tinham referenciais vagos e indefinidos para o contexto cultural da época. Nessa mesma perspectiva, quem poderia imaginar que o som produzido para representar o descerrar da porta da nave marciana era, na realidade, obtido pelo movimento de uma tampa metálica de um pote de vidro e que, fundidos aos gritos de pavor e pânico, materializou a ação dando-lhe um sentido de realidade? Para tal questão, a resposta que acreditamos ser a mais adequada é a de que nenhum de nós se detém em um único som específico. Afinal, o que efetivamente importa quando estamos no mundo imaginário inventado pelo rádio, não são os distintos sons produzidos ou percebidos isoladamente, mas sim a reunião destes que termina por sugerir imagens acústicas e remetem seus ouvintes a referenciais mais amplos construídos a partir dos sentimentos vivenciados diante de determinadas situações. No exemplo do efeito da tampa de vidro acreditamos que as imagens produzidas pelos ouvintes ligados na CBS, remetiam a um referente maior para a época: o temor gerado a partir da idealização dos marcianos como seres assustadores, demoníacos, mortíferos, indestrutíveis, tecnologicamente mais poderosos e capazes de ameaçar a própria existência humana. Devemos considerar também que, no processo de “percepção do som no rádio”, outros elementos se agregam para estimular o ouvinte a atribuir significados àquilo que escuta. Na mesma cena da abertura da portas da nave, a palavra mesclada aos ruídos da tampa de vidro, vozes, gritos e zumbidos indefiníveis, traduziu a ação e induziu a sensação de desespero diante da
desconhecida máquina imaginária. Nessa perspectiva, a descrição emocionada do repórter Carl Phillips sobre a abertura das portas da nave e a saída dos alienígenas do seu interior, por certo levou cada um dos ouvintes a imaginar, criar e recriar a cena a sua própria maneira. Ao retomarmos o nosso exercício de imaginação e loucura, constataríamos que apesar de teoricamente possuirmos em nossa contemporaneidade referenciais de racionalidade diferentes daqueles existentes no final dos anos trinta, ainda não seria de todo absurdo, impossível ou espantoso nos dias de hoje, causar pânico, medo e terror em parcelas, talvez significativas, da audiência de rádio. Para tornar isso possível, bastaria apenas transmitirmos um programa que, transitando entre o real e o imaginário, entre o falso e o verdadeiro, oferecesse a seus ouvintes um “relato” detalhado e emocionado sobre um fato que colocaria em risco a existência humana: o choque de asteróides contra a terra. Os instrumentos técnicos de que dispomos hoje para criar e manipular sons são mais eficazes e versáteis , no sentido de proporcionarem alto grau de realismo as ações, do que nos tempos de Welles. Mas a sensação básica produzida por uma transmissão semelhante realizada na atualidade seria a mesma, ou seja, a que levou um significativo número de ouvintes americanos a acreditar que seu país e a terra, como um todo, estavam sofrendo uma invasão marciana: o medo de estar diante do fim do mundo, da morte, da incapacidade de se defender. Prova disso é que um bom roteirista e produtor dispõe de ótimas “armas” para invadir a imaginação de seu público e estimulá-lo a sentir que o final da civilização humana está próximo. Para florescer o medo das pessoas, basta criar dentro de um estúdio o silêncio do espaço, o ruído do asteróide, o pânico nas ruas; narrativas emocionadas e convincentes que consigam despertam na audiência uma “verdadeira” sensação incômoda de estar diante do inevitável fim de sua existência, sobre o qual só Deus conhece seus mistérios. Como ninguém pode perguntar isso a Deus, o espaço para a imaginação vai continuar fértil por muitos e muitos anos.... até o fim do mundo, se estivermos vivos para contar a história. Longe de expressar nossas inquietações apocalípticas nessa curta viagem imaginária pelas potencialidades do rádio no passado e no presente, recolocamos em pauta o tema do fim do mundo que tem historicamente povoado o imaginário humano e alimentado nossos temores mais obscuros. Atire a primeira pedra quem ainda não pensou sobre o assunto! Se você pensou, termine a leitura desse texto, feche seu livro e saia correndo aos berros para a rua: afinal, os asteróides podem estar chegando.... pelo rádio, é claro! Bibliografia
ALVES, Walter O. Radio: la mayor pantalla del mundo. Quito, Ciespal, 1991. KAPLUN, Mário. Producción de programas de radio: el guión, la realización. Quito, Ediciones CIESPAL, 1978. SÁ, Leonardo. O sentido do som, in Rede imaginária - televisão e democracia. São Paulo, Companhia das Letras, 1991. SPERBER, George B. Introdução à peça radiofônica. São Paulo: EPU, 1980. ZAREMBA, Lilian. Orson Welles: o labirinto auditivo de Guerra dos Mundos. In: ZAREMBA, Liliam e BENTES, Ivana (Orgs), Rádio Nova, constelações da radiofonia contemporânea. Rio de Janeiro, UFRJ/Publique, 1996.
Parte II: O Contexto
7. O Poder de Mobilização do Rádio Na época de A Guerra dos Mundos, o poder de mobilização do rádio já era conhecido na política. Os movimentos nazifascistas na Europa e o populismo de Getúlio Vargas no Brasil foram exemplos da utilização do meio para mobilizar as massas.
por Dóris Fagundes Haussen Jornalista, Doutora em Comunicação, Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicou Rádio e Política: Tempos de Vargas e Perón (EDIPUCRS, 1997).
“...é impossível separar a história visual da não visual – a épica oral, a novela, o rádio – já que os métodos usados para criar a ilusão não são mais que diferentes aspectos da complexa história dos sentidos humanos entrelaçados com vários níveis da história cultural e tecnológica”. Anthony Smith(1) Um breve olhar sobre a segunda metade década de 30 permite, de imediato, a percepção de algumas das causas do poder de mobilização do rádio naquele momento. As nuvens da Segunda Guerra Mundial acumulavam-se na Europa e eram divulgadas nos Estados Unidos e no resto do mundo. O rádio despontava como a grande novidade na área da tecnologia da comunicação e começava a ter suas características melhor exploradas após as experiências amadorísticas da década anterior. E alguns países iniciavam a utilizar-se do veículo politicamente. Em 1933, na Alemanha, quando Hitler foi designado Chanceler, os nazistas começaram a usar o rádio para fazer propaganda e, dois anos antes, já haviam tentado influenciar na nomeação dos diretores das emissoras. Na mesma época, o presidente americano Franklin Roosevelt divulgava as suas “ Conversas ao pé do fogo” e Mussolini, na Itália, também já percebera o poder do veículo. No Brasil, Getúlio Vargas, da mesma maneira, faria uso do rádio (Haussen,1997). Neste sentido, o veículo era o elemento comum utilizado para a mobilização das massas mas, o modo como isto foi efetuado (e os resultados obtidos), teve a ver com as diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas de cada uma das sociedades da época. No caso brasileiro, e dos demais países latino-americanos, o surgimento e a sedimentação do rádio coincide com o período de construção destas nações e, assim, o discurso político utilizado era o do nacionalismo. Conforme Lenharo(1986:40), “ o rádio permitia uma encenação de caráter simbólico e envolvente, estratagemas de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo de comunidade nacional”. Segundo o autor, “ o importante não era exatamente o que era passado e sim, como era passado, permitindo a exploração de sensações e emoções propícias para o envolvimento político dos ouvintes”. O êxito, no entanto, desta utilização política, só é possível de se analisar, no caso latino-americano, levando-se em consideração o que Martín-Barbero(s/d:183) considera o “compromisso” pactuado entre as novas massas urbanas, que se constituem naquele momento, e o Estado. As demandas deste novo ator social, que vão aparecer no discurso nacional populista, tornam-se “visíveis” através das novas tecnologias de comunicação daquela época: o rádio e o cinema. O povo, ao ouvir-se no
rádio e ao ver-se no cinema, “tinha seus gestos e características legitimados como conformadores da cultura nacional”(ib:184). Nos casos europeu e norte-americano, embora as “ predisposições” contassem com outros componentes, entre eles a crise econômica de 1929 e a proximidade da guerra, quanto à relação com o rádio, havia pontos comuns. Landi(1988:189) aponta a possibilidade de “ mescla” de gêneros no rádio e na televisão, que oportuniza multiplicar as formas de recepção, e que acabou gerando a “ decodificação aberrante” e o pânico dos ouvintes no caso de A Guerra dos Mundos. Para o autor, o ouvinte pode captar as diferenças de gênero e aceitar como verdadeiro tudo aquilo que está inserido no contexto noticioso e, como ficcional, tudo o que está dentro do gênero do radioteatro. Mas o noticioso propõe uma mescla e, em seu caráter de espetáculo, a possibilidade de utilização de diversos códigos para decifrar cada gênero, de misturá-los e confundí-los. “Os gêneros são um dispositivo por excelência do popular já que não são somente modos de escrita mas, também, de leitura: um lugar do qual se lê, se olha, se decifra e se compreende o sentido de um relato”.(2) Embora Hitler, em sua época, não contasse com análises deste tipo para estruturar a sua estratégia de propaganda, já no seu livro “Minha Luta”, considerava que a palavra falada, e não a escrita, tinha sido a responsável principal pelas grandes transformações históricas.(3) “O líder nazista salientava a necessidade da propaganda ser popular e de se equiparar ao nível intelectual da capacidade de compreensão dos mais ignorantes entre aqueles a quem era dirigida”.(Lenharo, op.cit.:42). Hitler afirmava que a propaganda devia levar em consideração principalmente o sentimento da massa e acompanhar “ os desejos vagos e as convicções indeterminadas” do povo para alcançar o fim a que se propunha(4). Os nazistas preferiam a palavra falada à escrita, para seus fins de propaganda, porque a consideravam mais imediata, vibrante, pessoal. “A ocasião ideal para criar a emoção por meio da voz humana era conglomerar as massas, e, depois disso, o rádio era o melhor veículo. Hitler era consciente do poder da própria voz” (Hale,1979:30). No entanto, o rádio era apenas um dos meios para a obtenção dos resultados desejados. “Outro princípio da propaganda era o de que devia conduzir a uma ação, a uma mudança de conduta e não somente a um estado provisório de ânimo”. Por isto, a máquina de propaganda nazista estava tão estreitamente ligada ao aparato militar. Segundo o autor, “ não somente as pessoas estavam obrigadas a atuar de acordo com os planos publicados pelos órgãos de propaganda mas a própria política coordenava-se com a propaganda”. Para fazer com que a mensagem nazista penetrasse “nas mentes e sobretudo nos corações do povo, os propagandistas utilizaram uma série de técnicas específicas que se baseavam mais ou menos inconscientemente na teoria psicológica” (id.ib:31). E uma das mais importantes era a da
repetição: o público era bombardeado e saturado com a mesma informação, o mesmo slogan, as frases repetidas. Outra técnica utilizada foi a da “montagem”: as notícias do front tinham a sua divulgação precedida por sons de fanfarras, cantos e batidas de tambores intercalados com músicas clássicas ruidosas e cantos bélicos, entremeados por dramáticos silêncios. Tudo para conseguir o maior impacto possível e predispor os ouvintes às mensagens que divulgavam apenas os sucessos nazistas. De derrotas, nem pensar. Na Itália, Mussolini tentava aplicar as mesmas técnicas. No entanto, conforme Hale(ib:32), “o modelo não se aplicava à condição displicente da organização italiana” e não obteve o sucesso da estratégia alemã, de “propaganda total”, inspirada em Goebbels, o poderoso ministro da Propaganda. De qualquer forma, ainda que não nos moldes nazistas, Mussolini, a sua maneira, também fez uso político do rádio. E a questão que permanece é a da sintonia da população com as idéias divulgadas pois, do rádio, de alguma forma era possível “desligar-se”. Guattari(1981:174) considera que o fascismo é um tema-chave para abordar a questão do desejo no campo social. Para o autor, “ há uma política que se dirige tanto ao desejo do indivíduo quanto ao desejo que se manifesta no campo social (...) o despotismo que, frequentemente reina nas relações conjugais ou familiares, provém do mesmo tipo de agenciamento libidinal daquele existente no campo social”. A questão do desejo, intuitivamente percebida pelos líderes autoritários foi, então, trabalhada e potencializada através do rádio para a consecução de determinados objetivos. Para o entendimento deste fenômeno, Guattari considera ser necessário buscar a compreensão desta “ química social do desejo” que atravessa, não apenas a História, mas também o conjunto do espaço social. Desta forma, o sucesso de determinados movimentos políticos não pode ser explicado apenas pela aparição de um líder carismático que, autoritária ou demagogicamente, dirige as massas na direção que lhe aprouver, com o auxílio de algum veículo de comunicação. No caso do populismo latino-americano, por exemplo, o fenômeno da manipulação das massas por parte do líder, segundo Prado (apud Weffort,1981:75), corresponde a uma satisfação de aspirações longamente acalentadas. “O líder populista, em geral com forte dose de carisma, ao mesmo tempo que procura manipular as massas para que elas se enquadrem dentro dos limites por ele impostos, também ativa mecanismos de satisfação de velhas aspirações, como exemplo, a legislação social das massas trabalhadoras”. O uso do rádio no Brasil No caso brasileiro, nas décadas de 30 e 40, Getúlio Vargas soube explorar muito bem o momento vivido pelo país. O mundo preparava-se
para a guerra e havia necessidade de produtos e alimentos que podiam ser exportados. O Brasil voltava-se para a industrialização e as massas urbanas começavam a se constituir e a apresentar as suas exigências. A principal característica do período Vargas, conforme Noya Pinto(1986:49), foi a da intervenção do Estado em quase todos os setores da vida brasileira. “Inicialmente como planejador e coordenador, em face da desorganização da economia proveniente da crise de 1929, em seguida como participante direto na produção, através de obras públicas e da criação de empresas estatais”. E, como conseqüência natural da instalação de um Estado autoritário, "o controle da informação passou a ser rigidamente exercido”. Como na época o rádio era o veículo de comunicação mais abrangente, pelas suas características próprias, entre elas a de possibilitar o acesso a analfabetos, o governo de Vargas tratou de cercar-se de uma série de dispositivos de controle da informação. Entre estes, destacou-se a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, com o objetivo de mobilizar e controlar a opinião pública. O DIP agiu fortemente sobre a imprensa escrita e o rádio, contando inclusive com censores dentro das emissoras e redações. Até letras de músicas eram censuradas. No entanto, embora houvesse uma proposta de utilização política do rádio, não era doutrinária como a da Alemanha, por exemplo. A programação era basicamente de entretenimento, com as inserções governamentais em momentos específicos – além da “Hora do Brasil”. O que se observava, por um lado, conforme Haussen (op.cit:139), eram situações concretas de censura e auto-censura; proibições de determinados programas e músicas; contratação de alguns artistas em detrimento de outros; favorecimento através de verbas publicitárias; apropriação e fechamento de emissoras. Por outro lado, havia programações bem feitas, radionovelas com alto índice de audiência, programas esportivos e de humor, noticiosos que começavam a encontrar a sua linguagem (com divulgação limitada de fatos). Em resumo, embora o rádio fosse, naquele momento, o único veículo realmente de massa, não era somente esta a explicação para o seu sucesso: acima de todas as sanções experimentadas, o veículo relacionava-se com o imaginário popular. “O que era divulgado era o vivido, o que dava prazer, o que mexia com as emoções – o espelho, enfim. Um espelho que podia distorcer a imagem mas que não a modificava totalmente em sua essência”(ib:142). As causas, portanto, para o êxito do rádio na mobilização das massas na década de 30 são inúmeras, e vão desde motivações psicológicas, individuais, até aspectos sócio, culturais e econômicos que diziam respeito a ocorrências mundiais. Isto sem esquecer o próprio avanço tecnológico que apontava o rádio como a grande novidade do momento. Naqueles anos o veículo ocasionou uma série de estudos e análises, tanto sobre as possibilidades de uso político – o próprio Goebbels considerava o veículo de
suma importância como instrumento de propaganda – quanto sobre as suas possibilidades estéticas. O dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, entre 1927 e 1931 analisou a relação entre rádio e política e rádio e arte, publicadas posteriormente sob o título de “Teoria do Rádio” e, em 1934, Rudolf Arnheim publicaria “A Estética Radiofônica” onde refletia sobre a dimensão artística do rádio. As possibilidades para o século XXI No século que termina, os exemplos de mobilização pelo rádio são inúmeros. Desde as grandes manipulações do período da Segunda Guerra Mundial, passando por movimentos revolucionários das décadas posteriores, como os da Argélia, de Cuba e da Nicarágua, até por movimentos religiosos. Sem esquecer as mobilizações esportivas e as políticas, como a da “Rede da Legalidade”, quando na década de 60 Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, mobilizou a opinião pública, através do rádio, para garantir a posse de João Goulart como presidente da República. A lição é a de que o sucesso destas mobilizações depende não só da capacidade técnica da utilização do veículo mas, principalmente, das predisposições dos ouvintes, sejam elas psicológicas, sociais, culturais, econômicas ou políticas. A interrogação é de se o rádio, hoje, teria esta possibilidade de mobilização, tendo em vista estar inserido numa realidade totalmente diversa, que é a da “sociedade da informação”. Uma sociedade em que a convergência entre tecnologias anteriormente isoladas – o telefone, o rádio, a TV e o computador – apoiadas em satélites, fibras óticas, cabos, etc., permite a expansão quase infinita de canais e de utilizações para a comunicação. Uma sociedade em que a tendência é a de uso cada vez mais fragmentado e individualista dos meios de comunicação. No entanto, conforme Smith (op.cit:81), desde o seu início, o fenômeno das telecomunicações viu-se obrigado a suportar o pesado fardo das predições, tanto de amadores quanto de profissionais. E, conforme o autor, as previsões nem sempre acertaram, desde quando surgiu o telégrafo, passando pelo rádio, o cinema, a televisão, até as atuais tecnologias. Na realidade, “o potencial dos novos sistemas de comunicação quase sempre parece dirigido à recuperação. As predições tecnológicas vêm relacionadas com a nostalgia...com o medo e os sonhos”. Para o autor, “olhamos para a frente, em relação às mudanças tecnológicas, mas sempre através do filtro das mudanças sociais que somente se fazem visíveis em retrospectiva”. De qualquer forma, os prognósticos mais úteis que se podem fazer sobre as tecnologias da comunicação “são os que nascem da continuidade histórica mais que das simples extrapolações do potencial momentâneo atual”. E, ainda conforme Smith, mesmo a eliminação da distância no transporte da informação, devido ao uso dos satélites, não altera a lealdade
geográfica e política dos cidadãos. “As pessoas seguirão sentindo que pertencem – ou não – a uma determinada comunidade, independentemente do potencial latente dos meios de comunicação eletrônicos”. No caso da mobilização pelo rádio significa que, enquanto ele falar a linguagem mais próxima, mais afetiva e mais direta aos “corações e mentes”, é uma possibilidade que continuará existindo. Não esquecendo que hoje ele já se encontra na Internet. Notas e Referências Bibliográficas 1- SMITH, Anthony. El impacto de las telecomunicaciones en nuestro futuro: prediciones. In DENNIS, E. y otros.(1996) La Sociedad de la Información. Amenazas y Oportunidades. Madrid, Ed.Complutense 2- Conforme LANDI, Oscar. Mirando las notícias. In VERÓN, E. y otros (1988). El Discurso Político. Lenguages y Acontecimientos. Buenos Ayres, Hachette. 3- Bourdieu (1996:89) considera que o poder das palavras reside no fato de não serem produzidas a título pessoal por alguém que é tão somente “ portador” delas. “ O porta-voz autorizado consegue agir com palavras em relação a outros agentes ... na medida em que sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é, por assim dizer, o procurador”. O autor considera, também, que este “ enunciado performativo” está condenado ao fracasso sempre que o locutor não tem a autoridade (delegada) para emitir as palavras que enuncia. “...o êxito destas operações de magia social que são os atos de autoridade (ou atos autorizados) está subordinado à confluência de um conjunto sistemático de condições interdependentes que compõem os ritos sociais. 4- Hitler, Adolf(1962,8.ed.).Minha Luta. São Paulo, Mestre Jou. Cit.in LENHARO, Alcir(1986). Sacralização da Política. Campinas, Papirus Bibliografia BOURDIEU, Pierre(1996). A Economia das Trocas Linguísticas. São Paulo, Edusp DENNIS,E. y otros(1996). La Sociedad de la Información. Amenazas y Oportunidades. Madrid, Ed. Complutense GUATTARI, Félix(1891). Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo, Brasiliense HALE, Julian (1979). La Radio como arma política. Barcelona, GGili
HAUSSEN, Doris F.(1997). Rádio e Política: tempos de Vargas e Perón. Porto Alegre, Edipucrs LENHARO, A.(1986) Sacralização da Política. Campinas, Papirus MARTÍN-BARBERO, J.(s/d) Procesos de Comunicación y matrices de cultura. Itinerário para entrar y salir de la modernidad. México, Felafacs/GG NOYA PINTO,V.(1986) Comunicação e Cultura Brasileira. São Paulo, Ática PRADO, M.L.(1981) O Populismo na América Latina. São Paulo, Brasiliense TOTA, A.P.(1987) O Estado Novo. São Paulo, Brasiliense VERÓN, E. y otros(1988) El Discurso Político. Lenguajes y Acontecimientos. Buenos Aires, Hachette
8. A Guerra dos Mundos e o outro conflito mundial Colaborador direto do presidente Roosevelt e intérprete dos principais fatos da realidade política da época, no programa A Marcha do Tempo, Orson Welles não era propriamente um alienado de sua realidade histórica. A Guerra dos Mundos antecipa o conflito que no ano seguinte tomaria conta do mundo real.
por Luiz Carlos Saroldi Radialista e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dirigiu os programas Noturno, Arte Final e As dez mais em sua vida na Rádio Jornal do Brasil, produziu para a BBC de Londres a coleção de discos O Rádio no Brasil e é co-autor do livro Rádio Nacional: o Brasil em Sintonia (Funarte, 1985).
Antes mesmo de se firmar em Hollywood como diretor de A Última Sessão de Cinema (1971), Esta Pequena é uma Parada (1972) e Lua de Papel (1973), Peter Bogdanovich já estava envolvido com a obra de Orson Welles, tema de uma das monografias sobre cineastas que escrevera nos primeiros anos da década de 1960 para o Museu de Arte Moderna de Nova York. As dezesseis páginas intituladas The Cinema of Orson Welles (1961) contrariavam as restrições da crítica vigente nos Estados Unidos, defendendo a maturidade técnica e intelectual do autor de Cidadão Kane, com base nas realizações de Grilhões do Passado (1955) e, sobretudo, A Marca da Maldade (1958). A leitura desse trabalho levaria Orson Welles a telefonar para Peter Bogdanovich em 1968 e propor um encontro. Daí sairia o acerto de um livro de entrevistas gravadas que passaria em revista a biografia e cada um dos empreendimentos de Welles, tanto no cinema quanto no teatro e no rádio, sempre sob a forma de um bate-papo. O trabalho intermitente iria se arrastar pelos próximos dezessete anos, passando por bares, restaurantes, quartos de hotel e residências de um ou de outro em vários pontos do mundo. O material resultaria em várias caixas e vinte e cinco horas de gravações, que seriam editadas em 1992 - sete anos depois da morte do ator - graças à diligência de Oja Kodar, última companheira e herdeira de Orson, e à colaboração de Jonathan Rosenbaum, responsável pela versão definitiva do livro lançado entre nós em1997.1 Numa das primeiras sessões, Bogdanovich leva seu entrevistado a falar do rádio e sua relação com a arte sonora: OW: Eu estava feliz no rádio, Peter, o mais feliz que já fui como ator. O rádio é tão...o que estou querendo dizer, impessoal? Não, íntimo. É o mais perto que se pode chegar da tremenda e íntima satisfação de cantar na banheira, e ainda pagam você por isso. O microfone é um amigo, sabe. A câmera, um crítico. Acho que eu diria que o rádio está muito mais próximo do filme do que do teatro - e não é só porque se trata de mais uma máquina atenta em substituição à platéia. Não. O microfone, assim como a câmera, lhe dá opção de se colocar aqui ou ali. Não fica só lá sentado fungando no escuro. (Ob. cit. p.57) A lucidez do artista quanto à sensibilidade e natureza de seu instrumento de trabalho não era uma conquista recente do homem que, aos cinquenta e três anos, dialogava com um cinéfilo de vinte e nove. Mas estava presente na produção radiofônica de A Guerra dos Mundos, que dirigira aos vinte e três anos, impondo ao romance de H.G.Wells um novo formato e o impacto de uma recriação sonora em tempo real.
1
Peter Bogdanovich e Orson Welles. Este é Orson Welles. - São Paulo:Globo,1995.
OW: O tamanho da reação, claro, foi espantoso. Seis minutos depois de entrarmos no ar, os painéis telefônicos das estações de rádio do país inteiro piscavam como árvores de Natal. (...) Vinte minutos depois estávamos com um estúdio repleto de policiais atônitos. Eles não sabiam quem prender nem por quê, mas sem dúvida emprestaram um certo tom ao restante da transmissão. Fomos percebendo, enquanto prosseguíamos com a destruição de Nova Jersey, que o número de lunáticos existente no país tinha sido subestimado. (ib. p.57/58) Um mágico nas ondas hertzianas Além da música, do desenho e da arte de representar, desde cedo Welles cultivara o talento para a prestidigitação. Algumas vezes se apresentaria em espetáculos do gênero tendo como assistentes estrelas do porte de Rita Hayworth ou Marlene Dietrich. Mas foi no estúdio da CBS, atuando e dirigindo a décima-sétima audição de domingo à noite do seu Mercury Theatre on the Air - ainda sem patrocinador - que Welles exibiu a uma platéia estimada em seis milhões de americanos seus dotes de mágico, antecipando em algumas horas o Halloween de 1938. Sem vassoura, abóbora, máscara ou chapéu de bruxa. OW: (...) Falando nisso, a mágica é dirigida quase que exclusivamente aos homens, sabia? Para eles é uma volta aos tempos de menino, à infância. Não tem nada a ver com as mulheres - elas odeiam mágica, ficam irritadas. Não gostam de ser enganadas. E os homens, sim. (...) E o grande lance é conquistar as mulheres provocando o interesse delas por outras coisas que não seja o truque - mulher detesta não saber como a coisa é feita. Para elas, "é só um truque". Já os homens adoram não saber como é feito. Essa é a diferença essencial entre os sexos. ( id.ib. p.235) Uma noção prática de psicologia de platéias que certamente seria útil ao homem de rádio, ainda mais alguém que fizera seu aprendizado do veículo a partir de 1935 como locutor-ator de A Marcha do Tempo, série apresentada pela Time Inc. também no cinema e da qual Orson faria uma paródia no prólogo de Cidadão Kane. OW: (...) Era um programa maravilhoso de fazer. Divertidíssimo, porque meia hora depois de ter acontecido algo, lá estávamos nós interpretando o fato com música, efeitos sonoros e atores. Era um superprograma - que prendia a atenção. (Id.ib. p. 119) Durante quatro anos, de segunda a sexta-feira, Welles seria uma das vozes das audições dramatizadas de A Marcha do Tempo, tendo ocasião de
viver ao microfone da CBS personalidades tão variadas quanto o pai da psicanálise Sigmund Freud, o imperador da Abissínia Hailé Selassié, e até mesmo - imagine como - as cinco gêmeas Dione. 2 Esse trabalho diário seria suficiente para mantê-lo informado sobre os dias turbulentos vividos pela humanidade na década de 1930. A posse do presidente democrata Franklin D. Roosevelt em 1933 injetara uma dose de esperança na população norte-americana abalada quatro anos antes pelo Crack da Bolsa de Nova York que repercutira no mundo inteiro. Em compensação, do outro lado do Atlântico, 1933 marcava a ascensão ao cargo de Chanceler da Alemanha de Adolf Hitler, líder e fundador do partido que nos últimos três anos acumulara vitórias eleitorais que conduziriam à fundação do Terceiro Reich. O surpreendente sucesso do Partido Nazista nas eleições nacionais convenceu não apenas milhões de homens do povo, como também muitos capitães da indústria e elementos do Exército, de que ali estava um movimento que não poderia ser contido. Podiam não gostar da demagogia e da vulgaridade do partido, mas reconheciam que exaltava velhos sentimentos do nacionalismo e do patriotismo alemães tão duramente abafados nos primeiros dez anos da República. Hitler prometia dirigir o povo alemão sem o comunismo, o socialismo, o sindicalismo e as futilidades da democracia; tinha, pois, de contagiar e de inspirar toda a Alemanha. Foi um êxito.3 Mas o interesse de Orson Welles pela política não se limitava a sua participação nas emissões dramatizadas do noticioso da CBS. Na verdade, bem poucos norte-americanos medianamente informados poderiam ignorar o caldeirão em que certos cavalheiros citados nos jornais e nos programas de rádio ameaçavam ferver a humanidade, quer se chamassem Mussolini, Hiroito ou Franco. As chamas que consumiram o Reichstag, apenas um mês depois do destino da Alemanha ter sido entregue a Adolf Hitler, não deixavam dúvidas quanto ao rumo dos acontecimentos. Segundo testemunhas, enquanto Goering gritava no local do incêndio "este é um crime comunista contra o novo governo"4, as tropas S.S. já tinham em mãos o suposto responsável pelo fato: um débil mental holandês, piromaníaco, que se dizia comunista e se gabava nos bares de tentar incendiar edifícios públicos. O clímax da escalada nazista e de seus métodos operacionais viria na madrugada de 30 de setembro de 1938 com a assinatura do Acordo de Munique. Por ele, o presidente da França, Daladier, e o primeiro ministro britânico Neville Chamberlain cediam às pressões de Hitler no sentido de 2
Filhas de uma pobre família canadense do Ontário, as quíntuplas Dione seriam exploradas como atrações de feiras, publicidade etc. O tema voltou em 1998 na minisérie Crianças de Milhões de Dólares exibida pela TV Globo. 3 William L. Shirer. Ascensão e Queda do III Reich. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1963 p.217 4 ob.cit. p.189
permitirem ao exército nazista a ocupação da fronteira tcheco-alemã, sob o pretexto de proteger sudetos germânicos residentes na região - na verdade ex-cidadãos austríacos. Nessa área viviam 2 milhões e 800 mil alemães, e ali também estavam todas as fortificações tchecas. Era a melhor linha defensiva da Europa, só comparável à Linha Maginot, francesa. Chamberlain e Daladier voltaram a seus países como heróis. O primeiro ministro britânico agradeceu, sorridente, de uma janela do segundo andar de sua residência em Downing Street declarando ter trazido da Alemanha "a paz para o nosso tempo". Mas ninguém sintetizaria melhor as consequências de Munique do que o líder trabalhista Winston Churchill, em seu discurso de 5 de outubro, na Câmara dos Comuns: Sofremos uma derrota total e consumada (...) encontramo-nos no meio de um desastre de enorme magnitude. A estrada para o Mar Negro foi aberta (...) Todos os países da Europa central e do vale do Danúbio, um após outro, serão arrastados no vasto sistema da política nazista. (ob.cit. p.206) O desenrolar do episódio tcheco seria coberto passo a passo pelo rádio norte-americano. Sondagem de opinião realizada no dia seguinte, 16 de setembro, revelou que 80% dos americanos julgavam fatal virem a ser chamados a combater os nazistas, em caso de conflito, embora ainda mal refeitos da crise econômica.5 Diante desse clima, seria um simples acaso, ou capricho de Orson Welles escolher um livro publicado em 1898 - antes portanto do advento do rádio - e tendo por tema a invasão da Terra por seres extraterrestres, para transmissão pelo Mercury Theatre na véspera do Dia das Bruxas? Segundo o depoimento do roteirista Howard Koch, trinta anos depois daquela noite, a tarefa lhe parecera desanimadora, pouco tendo a aproveitar do original. Através do produtor John Houseman, segundo homem na hierarquia da Mercury, tentou que o diretor considerasse a possibilidade de adaptarem outro livro. Mas a resposta de Welles foi um firme "não". Aquele era o seu projeto favorito. E a exemplo do que consta na Biblia com relação à Criação do Mundo, também teria de ser feito em seis dias. A sugestão de partir de noticiários radiofônicos era do próprio diretor, que ao longo da semana criaria um "pesadelo de cenas escritas e reescritas" 6, telefonemas nervosos e noites sem dormir, num incessante fazer e refazer que só terminaria com a transmissão ao vivo de domingo à noite. Entre a arte e a política , o amigo do presidente Em suas conversas com Bogdanovich, Welles confirma ter feito três campanhas ao lado de Roosevelt, como um dos redatores de seus discursos. 5
Claude Sarraute. "Welles e Wells", Le Monde, 16/3/76 Howard Koch. "The night the world came to an end almost". Encarte ao LP Evolution Stereo 4001, 1968
66
Os dois tinham um relacionamento excelente, e, segundo ele, Roosevelt era um homem muito engraçado. PB: Não houve uma época em que você se interessou bastante por política? OW: Houve, larguei tudo para tentar entrar na política. E não achei nenhum canal para meus interesses - nenhum que me parecesse construtivo. PB: Na política? OW: Política e governo mundial. Eu estava disposto a largar tudo. Uma outra vez, estava disposto a largar os espetáculos para me dedicar à educação de adultos. Fui tentar conseguir grandes verbas e bolsas com as fundações, etc. e tal, depois percebi que ficaria nas mãos de uma burocracia imensa, daí desisti. Mas, se tivesse tido um mínimo de incentivo, você não estaria aqui com esse seu microfone. PB: Ainda bem que você não teve incentivo. OW: Não, acho que teria sido muito mais interessante - não usar o cinema e os meios de comunicação só para diversão. (ob. cit. p.240) O mesmo grau de interesse que o levara a se tornar um mágico profissional poderia levar Orson Welles pelos caminhos da política. Outra de suas revelações é ter estado perto de concorrer ao Senado pelo Wisconsin. Então, seu adversário teria sido Joe McCarthy, mais tarde tristemente consagrado por caçar comunistas nos bastidores de Hollywood. De qualquer forma, a identificação de Welles com os melhores valores da democracia ainda estaria por se refletir em sua obra, o que ficaria evidente a partir de Cidadão Kane (1941). Realizar seu primeiro filme sobre um magnata da imprensa megalômano - facilmente identificado com uma figura pública como William R. Hearst - foi uma espécie de declaração de princípios do jovem diretor. Um gesto que acarretaria ao recém-chegado a Hollywood a antipatia de chefões e colunistas da imprensa, a má vontade da crítica norte-americana e boa parte dos futuros obstáculos surgidos em sua carreira, quer pela falta de acesso a patrocínios quer pelas portas fechadas a seus projetos. Mas ainda estamos em outubro de 38, com um roteirista estreante tentando garantir seu primeiro emprego, às voltas com uma novela de ficção científica escrita em Londres quarenta anos atrás e que agora deve se ajustar ao que o diretor de apenas vinte e três tem na cabeça. E, ainda mais, para ser servida quente ao público norte-americano no prazo de uma semana. Num script de sessenta páginas. Da catástrofe sai um candidato a Dono do Mundo
Durante 45 minutos daquela noite de domingo os Estados Unidos foram submetidos a uma prova de resistência não anunciada. Apesar do programa do Mercury Theatre ter tido a divulgação normal de um entretenimento radiofônico, a dramatização de A Guerra dos Mundos alcançou um tal grau de credibilidade que atingiu os temores conscientes e inconscientes da população. Embora comece falando da ameaça latente representada por inteligências superiores ocupadas em estudar os terrestres desde o princípio do século, a narração de abertura de Orson Welles de repente assume um tom tranquilizador, afirmando que a expectativa chegou ao fim "no trigésimo nono ano do século vinte". "Foi pelos fins de outubro. Os negócios iam melhor. O pavor da guerra estava superado. Maior número de homens voltavam ao trabalho. As vendas subiam." (1) Estas e outras referências otimistas ocupam mais 27 segundos antes do corte para o início efetivo do programa, com a transmissão de boletim meteorológico com notícias de perturbação atmosférica sobre a Nova Escócia. Segue-se a aparente rotina da transmissão de um rádio-baile dominical, pouco a pouco interrompido pelas entradas de novos comunicados. A ação se acelera com entrevistas e transmissões externas, das quais emerge a figura do astrônomo Richard Pierson, do Observatório de Princeton, vivido por Orson Welles. O conflito atinge o climax por volta dos 38 minutos de programa, quando artilharia pesada e bombardeiros são mobilizados contra os "raios de calor" que dizimam os terrestres, até que a fumaça negra expelida pelos marcianos silencie o último locutor, entre dobres de sinos. O último intervalo de identificação do programa é transmitido pela CBS por volta dos 40 minutos. Daí em diante o professor Pierson retoma a narrativa, escondido numa casa vazia, onde anota suas observações. No dia seguinte sai para explorar as vizinhanças, quando subitamente se depara com alguém que o observa: é um homem com um facão. Estranho: Pare... De onde é que veio? Pierson: Eu vim de...muitos lugares. Há muito tempo, de Princeton. Estranho: Princeton, é? Mas isso é perto de Grovers Mill! Pierson: É sim. Estranho: Grovers Mill... (Ri como de uma boa piada.) Não há comida aqui. Este é meu território - desta ponta da cidade até o rio. Só há comida para um... Para onde está indo? Pierson: Não sei. Acho que estou procurando...procurando gente. O Estranho afirma que os marcianos se foram para Nova York. À noite o céu fica todo claro com suas luzes. Para o astrônomo, essa notícia representa o fim da humanidade, da qual teriam sobrado apenas os dois. O que não parece incomodar o outro sobrevivente.
Estranho: (...) Todos esses funcionariozinhos que viviam nestas casas eles não serviam para nada. Tinham a cuca vazia. Só sabiam correr para o trabalho. Via centenas deles correndo feito loucos para pegar seu trem de cada dia pela manhã, com medo de chegar atrasados no emprego; correndo de volta à noite, com medo de não chegar a tempo para o jantar. (...) Os marcianos serão uma benção celestial para esses caras. Jaulas confortáveis, boa comida, bom tratamento, nada de preocupações. Depois de uma semana ou duas de andanças pelo mato com estômago vazio, eles ficarão contentes de ser apanhados. Pierson: Você pensou em tudo, não pensou? Estranho: Se pensei! E não é só. Estes marcianos farão de alguns deles animaizinhos de estimação, ensinando-lhes gracinhas. (...) Talvez treinem alguns para que nos cacem. Pierson: Não, isso é impossível. Nenhum ser humano... Estranho: Sim, treinarão. Há homens que farão isso. (...) Pierson: No meio tempo, você e eu e outros como nós...onde iremos viver enquanto os marcianos dominam a Terra? Estranho: Já pensei em tudo. Vamos ter vida clandestina. Pensei nos esgotos. Debaixo de Nova York há quilômetros de esgotos. Nos maiores qualquer pessoa cabe. E depois há adegas, caixas-fortes, depósitos de alimentos subterrâneos, túneis ferroviários, metrôs. Está percebendo, não? Vamos arranjar um punhado de homens fortes. Nada de fracotes, fora com eles. Pierson: E quer que eu vá? Estranho: (...) Temos de arranjar lugares seguros para nós, compreende, e arranjar todos os livros que pudermos - livros científicos. É aqui que entram homens como você, percebeu? Faremos incursões nos museus, espionaremos os marcianos. Talvez não tenhamos de aprender muito para....imagine só: quatro ou cinco das máquinas de combate deles de repente se põem a funcionar...raios de calor à direita e à esquerda, e nenhum marciano dentro. Nenhum marciano, percebe? - Mas homens - homens que aprenderam a lidar com elas. Pode mesmo ser ainda em nosso tempo. Que beleza! Imagine uma dessas coisas maravilhosas, com seus raios de calor em nosso poder! Vamos disparar contra os marcianos, vamos disparar contra outros homens. Todo mundo vai ter de se ajoelhar diante de nós. Pierson: É esse o seu plano? Estranho: Você e eu e mais uns poucos seremos donos do mundo. Pierson: Estou percebendo. Estranho: Fale, o que é que há? Para onde vai? Pierson: Não para o seu mundo. Adeus, Estranho... O diálogo dura cerca de seis minutos. A recusa de aceitar o mundo proposto pelo Estranho leva Pierson a explorar sozinho o outro lado da
cidade, onde descobre que os marcianos haviam sido mortos pelas bactérias contra as quais não tinham proteção. Mortos, como diz ele - "pela coisa mais humilde que Deus em Sua sabedoria colocou sobre esta terra". Na tranqüilidade de seu estúdio, em Princeton, Pierson escreve o capítulo final do relatório começado numa fazenda deserta em Grovers Mill. Certo de que, pelo menos desta vez, está a salvo dos esgotos, da vida subterrânea, do desprezo pelos valores humanos dos que pretendem dominar o mundo. Mensagem entendida até mesmo pela multidão de cidadãos americanos que, apavorados, abandonaram seus rádios e sairam para as ruas, sem ouvir o final da transmissão, em busca de um socorro improvável para o conflito real e iminente. Bibliografia BOGDANOVICH, Peter e WELLES, Orson. Este é Orson Welles. Tradução Beth Vieira. - São Paulo: Globo, 1995 SHIRER, William L. Ascensão e Queda do III Reich. Tradução de Pedro Pomar. - Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3ª ed. 1963. SARRUTE, Claude. "Welles e Wells." Le Monde 16.3.76 KOCH, Howard. "The night the world come to an end almost." Encarte no álbum duplo selo Evolution Stereo 4001, 1968.
9. O rádio nos anos 30 nos EUA: antecedentes de A Guerra dos Mundos O programa de Orson Welles aconteceu num veículo que vivia o seu auge nos Estados Unidos: o rádio dos anos 30 era o centro dos espetáculos, a grande sensação do jornalismo e o meio que o presidente Roosevelt havia escolhido para conquistar os corações e as mentes dos norte-americanos.
por Sônia Virgínia Moreira Jornalista, Doutoranda em Comunicação e Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É autora de O Rádio no Brasil (Rio Fundo Editora, 1991) e co-autora de Rádio Nacional: o Brasil em sintonia (Funarte, 1985).
A partir da década de 30, o rádio norte-americano vive a sua época de ouro. Em setembro de 1935, 22 milhões de domicílios possuíam pelo menos um aparelho receptor e o modelo mais comum era o rádio de mesa tradicional - grande, sofisticado e a válvulas. Ao mesmo tempo, cerca de 2 milhões e 500 mil automóveis já estavam equipados com rádio. Mesmo com o mercado de aparelhos em expansão, o número de emissoras operando nos Estados Unidos continuava praticamente igual ao registrado no início da década - pouco mais de 600 em todo o país. Mas algumas alterações importantes haviam acontecido nesse período: em 1935, por exemplo, nove entre dez emissoras estavam autorizadas a transmitir em tempo integral , a maioria permanecendo no ar entre 16 e 18 horas por dia. Além disso, pelo menos 30 estações já transmitiam com potência de 50 kilowatts.7 A revolução da indústria do rádio na década de 30 serve para explicar o crescente poder do meio, que resultou nos acontecimentos daquela noite de 30 de outubro de 1938, quando Orson Welles colocou no ar a invasão marciana de "A Guerra dos Mundos" e fez da emissão um marco na história do veículo nos Estados Unidos. Entre os motivos que contribuíram para que o pânico se instalasse em vários estados norte-americanos na véspera do Dia das Bruxas de 1938 estavam dois eventos que marcaram profundamente toda a década: o abalo provocado pela depressão econômica nos Estados Unidos (1929) e a chegada ao poder de Franklin Delano Roosevelt (1933) - o primeiro Presidente na história do país a governar com a ajuda do rádio. A crise econômica, a política do New Deal e o radiojornalismo Na chamada "quinta-feira negra" do mês de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York caiu cerca de 40 pontos em um único dia, levando 7
Marvin R. Bensman. The History of Broadcasting, 1920-1960. Em http://www.people.memphis.edu
junto o sonho de enriquecimento rápido e fácil de uma enorme massa de pequenos investidores. Nos anos seguintes, os Estados Unidos mergulham na mais séria crise econômica. Fábricas e bancos fecham, empresários, fazendeiros e comerciantes declaram falência, o desemprego atinge milhões de pessoas. Em 1932, as ações de Wall Street valiam apenas 11% do seu preço antes do colapso em 1929. Nas eleições de 1932, o Presidente republicano H. Hoover (identificado como símbolo da sociedade capitalista) perde a Casa Branca para o adversário do partido democrata, que chegava à Presidência com a proposta de um "New Deal" - uma alternativa de governo em meio ao caos instalado a partir de 1929. Algum tempo depois da posse, em março de 1933, Roosevelt inaugura um estilo inédito (e intimista) de contato com a nação: convoca uma rede nacional de rádio para o que define como uma "conversa ao lado da lareira". O rádio não ganhou esse destaque por acaso. Durante a campanha presidencial de 32 e, mais tarde, na de 36 (quando foi reeleito), Roosevelt havia recebido o apoio de menos de um terço dos jornais norte-americanos. Essencialmente conservadores, os proprietários dos diários mais influentes dos Estados Unidos identificavam-se com a causa republicana. Em troca, eram chamados pelo Presidente de "press lords"- os "senhores da imprensa".8 A escolha do rádio como canal de divulgação por excelência dos atos do governo federal, portanto, foi uma consequência natural para o novo ocupante da Casa Branca. Decisão influenciada ainda mais pela experiência anterior de Roosevelt com o veículo durante o seu mandato como governador do estado de Nova York.9 Para o historiador Fred MacDonald, 8
Edwin Emery and Michael Emery. The Press and America. New Jersey: Prentice-Hall, 1984, p. 427. Interessante registrar também o entusiasmo da esposa do Presidente, Eleanor Roosevelt, em relação ao rádio. Antes mesmo da posse em 1933, ela começou a participar regularmente de um programa de variedades da rede NBC chamado Vanity Fair, patrocinado pelo creme facial Pond's. A Primeira Dama dos Estados Unidos emitia opiniões sobre temas gerais, com ênfase para os assuntos de interesse do público feminino. 9
"com o Presidente Roosevelt e o seu 'New Deal', o povo americano recebeu uma espécie de antídoto psicológico e material, levantando o moral das pessoas, que estava em baixa desde a Depressão de 1929. No rádio, FDR encontrou o meio mais eficiente para se comunicar diretamente com o país, explicando suas atividades e aumentando seu apoio popular".10 No primeiro ano no exercício da presidência, Roosevelt elaborou quatro discursos redigidos especialmente para o rádio, sempre começando sua fala com a saudação democrata "meus queridos amigos". Entre 1933 e 1935, o Presidente havia participado de 40 transmissões radiofônicas formais e informais, com uma audiência que chegava a 30% dos ouvintes em todo o país. A recepção a essa estreita convivência com o veículo foi tamanha que, em maio de 1934, editorial da revista especializada Radio Guide reconhecia que o rádio representava para o Presidente um recurso estratégico que até então jamais estivera ao alcance de outro governante. "O rádio permite [ao Presidente] responder instantaneamente, rebatendo qualquer acusação em relação à sua pessoa, ao seu governo ou aos seus projetos".11 Além disso, a atenção dispensada ao rádio e a frequência com que o Presidente convocava jornalistas para entrevistas e discursos oficiais na Casa Branca provocou o surgimento de um novo tipo de profissional - o repórter de rádio. Locutores, repórteres de campo ou comentaristas políticos, o fato é que depois da posse de Roosevelt em 1933 a profissão de radiojornalista ganha prestígio, enquanto o veículo amadurece estilos de reportagem e de comentários, especialmente na cobertura de assuntos políticos. Durante a década de 30, surge também outro tipo de reportagem, logo identificado como jornalismo interpretativo. O impacto causado pela revolução social, política e econômica dos primeiros anos do "New Deal"" 10
J. Fred MacDonald. Don't Touch That Dial! - Radio Programming in American Life, 1920-1960. Chicago: Nelson-Hall, 1979, p.40. 11 Donna L. Halper. Radio in 1934. "The Original Old Time Radio (OTR) WWW Pages", em http://www.old-time.com/halper34.html
incentiva o aparecimento do repórter especializado (tanto na imprensa como no rádio). À objetividade jornalística, que consistia no relato puro e simples de um acontecimento, soma-se um novo conceito, calcado no idéia de que o leitor e o ouvinte necessitavam entender também o contexto da notícia para chegar à verdade dos fatos. Apesar da curiosidade despertada pelo noticiário político e do aumento de interesse dos ouvintes por notícias, na primeira metade da década de 30 poucas emissoras dedicavam mais do que 15 minutos diários da programação a esse segmento. Predominava o material publicado nos jornais do dia. Na segunda metade dos anos 30 as principais redes radiofônicas aumentaram o tempo destinado às notícias, mas poucos programas eram patrocinados. Para um tipo de rádio essencialmente comercial, esse era um problema ainda a ser superado. Mesmo com a aparente dificuldade em conquistar fatias expressivas da programação, o jornalismo de rádio ganhou consistência durante os anos 30 nos Estados Unidos. Em muitos aspectos, a audiência estava em curva ascendente, em grande parte graças à cobertura incessante das notícias diárias, de grandes eventos e do destaque concedido a personalidades locais e internacionais. O enorme potencial do rádio para conseguir manter a unidade do país em torno da batalha contra a recessão econômica foi, talvez, a maior arma de Roosevelt. A aceitação das conversas radiofônicas presidenciais (sempre em tom amigável e conciliador) foi tamanha junto ao público que um ditado da época dizia que, para os ouvintes, "a distância que os separava de Washington era a mesma que os separava do receptor instalado na sala de visitas".12 Rádio X imprensa 12
E. Emery and M. Emery, op. cit., p. 446.
Ainda em 1931, antes portanto dessa "revolução" quanto ao uso do rádio, cerca de 140 emissoras eram controladas ou afiliadas a grandes jornais. Apesar de, no início da década, o Congresso continuar o debate sobre a tendência do rádio norte-americano - comercial ou educativo - o interesse demonstrado pelos proprietários das principais publicações não deixava dúvidas quanto ao futuro do veículo. Edições da época da revista Broadcasting registravam que possuir e administrar uma estação de rádio havia se transformado em um negócio rentável o suficiente para ajudar a manter algumas empresas proprietárias de jornais. Prova disso é que as principais cadeias jornalísticas do país - entre as quais Hearst, Scripps e Gannett - estavam adquirindo emissoras locais para formar suas próprias redes de rádio.13 Em 1932, a situação chegaria a um confronto curioso, com a Associação Americana de Proprietários de Jornais (ANPA) dividida entre as empresas que agregavam jornais e emissoras de rádio e aquelas que se dedicavam apenas à imprensa escrita. A disputa iniciada por questões exclusivamente comerciais (a venda de espaço para veículação simultânea de anúncios em dois tipos diferentes de mídia) se estenderia à cobertura jornalística. Os grandes jornais e as agências de notícias estavam preocupados com a agilidade demonstrada pelo rádio na cobertura dos acontecimentos. Nada disso acontecia por acaso, como seria comprovado alguns anos depois. Em maio de 1937, a cobertura jornalística radiofônica seria afetada de modo radical: naquele mês, o repórter Herb Morrison, da WLS de Chicago, transmitiu ao vivo - além de gravar o som em fita pela primeira vez - o desastre com o dirigível Hindenburg em Lakehurst, estado de Nova Jérsey. A partir daí, o uso de gravações e a cobertura ao vivo de eventos 13
Robert W. McChesney. Telecommunications, Mass Media and Democracy. New York: Oxford University Press, 1994, pp. 168-169.
transformaram-se em recursos típicos do radiojornalismo, logo assimilados pelas principais redes de emissoras. O ano em que tudo começou O ano de 1937 foi considerado ótimo para o rádio nos Estados Unidos, impulsionado com o avanço conquistado pela cobertura instantânea dos acontecimentos. Cerca de 80% das famílias já possuíam pelo menos uma aparelho receptor em casa e milhões de pessoas circulavam com modelos de rádios cada vez mais sofisticados em seus carros, com botões de apertar (ao invés de girar) - criados para facilitar a sintonia e impedir que os motoristas se distraíssem na tentativa de encontrar as estações no dial enquanto dirigiam.14 A participação do rádio no cotidiano das pessoas continuava crescendo: o desenvolvimento de outras tecnologias aumentava a capacidade do veículo para cobrir o que era notícia, tanto nos Estados Unidos como no exterior. A coroação do rei George VI na Inglaterra, o desaparecimento da aviadora Amelia Earhart, a inauguração da ponte Golden Gate em São Francisco e a morte do inventor do rádio, Guglielmo Marconi, foram alguns dos fatos transmitidos ao vivo pelos repórteres radiofônicos. Tudo completado pelas informações sobre as personalidades do veículo disponíveis em revistas como Radio Guide ou Radio Stars. No mesmo ano, a programação radiofônica oferecia uma enorme variedade de opções, entre óperas, musicais, novelas, esportes, humorísticos, noticiários. Artistas de Hollywood faziam a sua estréia no rádio - como W.C. Fields em "The Chase and Sanborn Hour" - ao mesmo tempo em que a influente jornalista de revistas Mary Margareth McBride estrelava talk show de grande sucesso e Edward R. Murrow consolidava seu talento de radiojornalista assumindo a direção do escritório europeu da CBS. 14
Donna L. Halper. Radio in 1937. "The Original Old Time Radio (OTR) WWW Pages", em http://www.old-time.com/halper37.html.
Entre 1937 e 1938 dois formatos na programação eram líderes de audiência nos Estados Unidos: os programas de calouros (Frank Sinatra foi revelação em um deles, Original Amateur Hour, de Major Bowes) e os chamados quiz shows (programas de testes, tipo pergunta e resposta), ambos com a participação maciça do público. "Em uma sociedade que valorizava a inteligência, o talento e o trabalho pesado como meio de crescimento pessoal e econômico, o público americano aceitava sem restrições qualquer tipo de programa que acenasse com uma chance de sucesso. Coincidentemente, a pior recessão econômica já enfrentada pelo país apenas aumentava a intensidade tanto de quem participava como de quem ouvia tais transmissões".15 O rádio ganha um ator revelação Em meio a essa intensa atividade radiofônica, um jovem de 22 anos chamado Orson Welles assumiria, ainda em 1937, a voz principal do seriado "O Sombra". Era uma voz cavernosa, ameaçadora, que abria o programa e arrepiava os ouvintes ao dizer "Quem sabe o mal que se esconde por trás dos corações dos homens? O Sombra sabe. He, he, he".16 Antes de assumir a personagem, a voz versátil de Welles havia sido explorada em um dos programas mais populares da década, "The March of Time", transmitido em rede por mais de cem emissoras. Criado no início dos anos 30 por David Frederick Smith - um veterano do rádio, ex-diretor e principal locutor de uma emissora no interior dos Estados Unidos - "The March of Time" era um misto de noticiário e radioteatro, no qual os atores interpretavam nomes de destaque da atualidade para, dessa forma, fazer a informação chegar ao grande público. Patrocinado pela revista Time e transmitido em rede pela CBS, o programa foi um dos mais ambiciosos do 15
J. F. MacDonald. Op. Cit., p.41 Andrew Sarris. Orson Welles on Radio: The Shadow and the Substance. Em: http://www.homevisioncimena.com/catalog/theatre 16
gênero, principalmente por causa do elenco de peso que conseguiu reunir, pela orquestra de 21 membros e pelo arsenal de efeitos especiais que conseguia reproduzir sete mil sons diferentes.17 Nos anos 30, o rádio havia se transformado, além de um meio de diversão e informação, em um dos principais instrumentos de controle político, com enorme capacidade de transmitir e fazer multiplicar credos e ideologias. Em entrevista na época, Orson Welles afirmava que o rádio era "uma máquina popular e democrática para a disseminação de informação e entretenimento".18 Consciente da força do veículo, em 1938 Welles assinava contrato com a CBS para criar (entenda-se: escrever, produzir, dirigir e apresentar) um radiodrama de uma hora de duração, para ser transmitido em rede, chamado Mercury Theatre on The Air, com um curioso subtítulo agregado - First Person Singular. A decisão, junto com John Houseman, de transmitir a adaptação do texto de H. G. Wells na edição do Mercury Theatre on The Air de 30 de outubro de 1938 - em uma noite beneficiada pela baixa audiência do programa popular comandado por Edgar Bergen e Charlie McCarthy na principal emissora concorrente - alterou significativamente a vida profissional de Welles e demonstrou de forma inequívoca o poder do rádio até então nunca comprovado de forma tão contundente. Segundo o produtor Frank Beacham, a intenção de Orson Welles ao trabalhar com o rádio era "acender a imaginação de cada indivíduo, criar imagens na mente humana, (...) usando uma combinação inovadora de narração, diálogo, música e efeitos especiais. O seu talento era a capacidade de fazer a imaginação voar".19 Para Richard Wilson, que fez parte da Mercury Theatre Company e participou da transmissão histórica de "A Guerra dos Mundos", Welles era 17
Edward Bliss Jr. Now the News - The Story of Broadcast Journalism. New York: Columbia University press, 1991, pp. 66-67. 18 A. Sarris. Op. Cit. 19 Id., ibid.
um radioator completo porque conseguia passar credibilidade instantânea a qualquer personagem ou relato. "Ele era o favorito dos diretores radiofônicos porque era capaz de entrar no estúdio perto da hora do programa entrar no ar, (...) pegar o texto, caminhar alguns metros até o microfone e, nesse curto espaço de tempo, conseguir transformar em realidade - fosse por meio da qualidade da voz ou de um dialeto próprio - os elementos necessários para fazer da história um assunto inteligente e interessante".20 A qualidade do trabalho de Orson Welles, somada aos acontecimentos que pontuaram os anos 30 nos Estados Unidos, mostra que o efeito provocado pela transmissão de "A Guerra dos Mundos" foi em grande parte resultado de toda uma década de evolução do rádio como principal meio de comunicação de massa no país. O alcance da transmissão do Mercury Theatre on The Air do último domingo de outubro de 1938 só foi possível porque, naquela mesma década, os ouvintes norte-americanos tinham descoberto no rádio não apenas uma fonte de entretenimento mas, principalmente, de informação. Ao transmitir um texto de ficção com fortes componentes de realidade (falas de
"repórteres" ao vivo, entrevistas, reprodução de sons que
"pareciam" reais, com a inconfundível voz de Welles descrevendo o "ataque marciano" a Nova York), o rádio conseguiu mostrar boa dose da sua capacidade de convencimento e de seu poder de mobilização. Duas características que seriam exploradas nos anos seguintes nos campos de batalha reais da Segunda Guerra Mundial. Bibliografia BENSMAN, Marvin R. The History of Broadcasting, 1920-1960. Home page do autor em http://www.people.memphis.edu 20
Id. Ibid.
BLISS Jr., Edward. Now The News - The Story of Broadcast Journalism. New York: Columbia University Press, 1991. EMERY, Edward and EMERY, Michael. The Press and America. New Jersey: Prentice-Hall, 1984. HALPER, Donna L. Old Time Radio. Home page da autora em http://www.old-time.com/halper.html MacDONALD, J. Fred. Don't Touch That Dial! - Radio Programming in American life, 1920-1960. Chicago: Nelson-Hall, 1979. McCHESNEY, Robert W. Telecommunications, Mass Media & Democracy. New York: Oxford University Press, 1994. SARRIS, Andrew. Orson Welles on Radio: the Shadow and the Substance. Home page "Theatre of the Imagination em http://www.homevisioncinema.com
10. Por que não aconteceu aqui: o rádio em 1938 no Brasil 1938 foi o ano do nosso primeiro programa de auditório, do primeiro programa "de montagem" e da primeira transmissão de Copa do Mundo. O Brasil era embalado ao som de As Pastorinhas, mas o rádio vivia sob censura num país bastante diferente dos Estados Unidos de então.
por Valério Cruz Brittos Jornalista, Doutorando em Comunicação na Universidade Federal da Bahia e Professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
O rádio brasileiro era muito diferente do norte-americano, em 1938. O Brasil também era bastante diferenciado dos Estados Unidos, no período, diferenciação que, aliás, mantém-se até hoje. Enquanto o rádio norteamericano já alcançava um melhor nível técnico, o nacional ainda não dispunha dos mesmos recursos e qualidade para a realização de seus programas. Analisando-se os dois contextos, vê-se que, se o Brasil vivia um período de ditadura e implantação de industrialização, com conseqüente urbanização, nos Estados Unidos vigia a democracia e o país já estava industrializado e urbanizado. Era difícil, portanto, que em duas realidades tão distintas ocorrem-se fenômenos próximos, que no Brasil repetisse-se uma mobilização popular como a provocada por “The war of the worlds” nas terras do Tio Sam. Em comum, os dois países sofriam, embora com intensidades próprias, as conseqüências do período anterior à Segunda Guerra Mundial, que eclodiria no ano seguinte e se extenderia até 1945, embora os Estados Unidos só efetivamente ingressassem no conflito em 1941 e o Brasil em 1942, ambos integrando o grupo dos Aliados. Mas aqui a quantidade de simpatizantes do Eixo era bem maior do que nos EUA. Neste ano de 1938 as emissoras noticiavam que já era possível captar, no Brasil, irradiações da British Broadcasting Corporation, em português; que nazistas brasileiros eram presos; que era editado, por Getúlio Vargas, o decreto-lei 910, fixando a jornada de trabalho e estabelecendo normas para a função jornalística (prosseguindo, assim, com sua política de cooptação dos profissionais de comunicação); que o governo declarava de utilidade pública a exploração e industrialização do petróleo nacional; que era assinado o decreto que regulamentava o salário mínimo; e que era regulado o jogo em todo o país. Naquele período, as notícias, como as da morte do cangaceiro Lampião, da assinatura da lei constitucional sobre a pena de morte, da instituição dos Conselhos Nacionais de Cultura e de Petróleo, e da preocupação com os ruídos produzidos pela radiodifusão, os preços dos gêneros de primeira necessidade e a tuberculose, eram transmitidas pelo rádio mediante a leitura de jornais, já que as emissoras não possuíam departamentos de radiojornalismo estruturados.21 Mas os jornais noticiavam também o próprio rádio, por exemplo condenando os concursos para locutores, que não teriam conseguido evidenciar valores autênticos. A guerra pela audiência 21
O primeiro noticioso especialmente redigido para o rádio foi o “Repórter Esso”, que estreiou às 12h55min do dia 28 de agosto de 1941, na Rádio Nacional, produzido pela agência de publicidade McCann-Erickson para a Esso Standard do Brasil. A primeira redação de radiojornalismo foi montada em 1948, por Heron Domingues, locutor do Repórter Esso, na mesma Rádio Nacional, com a denominação de “Seção de Jornais Falados e Reportagens”.
Quando a adaptação de Orson Welles foi ao ar nos EUA, no mesmo ano nosso país já havia vivido duas tentativas frustradas de golpe dos integralistas. Nesta primeira fase de constituição do massivo, num movimento não circunscrito ao Brasil, o país começava a modernizar-se, sendo o mercado nacional estruturado e organizadas as atividades industriais, mediante a substituição de importações. MARTÍN-BARBERO (1995, p. 11-12) assinala que o rádio atuou no processo de formação da nação brasileira, sendo sua função no período fazer-se voz da interpelação que, a partir do populismo, convertia as massas em povo e o povo em nação. O movimento populista, aqui representado por Getúlio Vargas, que em 1938 completava o primeiro ano do Estado Novo, preocupou-se particularmente com o rádio, utilizando-o claramente com objetivos políticos, o que, de uma forma ou de outra, verifica-se até os dias de hoje. Controlando mais de perto os meios para a massa, o órgão da ditadura Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) adotava medidas de arbítrio, como a cassação de concessões de emissoras de rádio, fechamento de jornais e censura em geral, além da distribuição de benefícios aos aliados do regime de exceção. Na década de 30, principalmente desde sua metade, o rádio vivia novos tempos, em grande parte estruturado empresarialmente, atuando de forma comercial, com programação mais diversificada e de agrado popular, beneficiado pelo decreto-lei 21.211, de 1932, que autorizava oficialmente a veiculação de publicidade, respaldado na definição pelo modelo norteamericano de distribuição de concessões a grupos privados e incentivado pelo barateamento do custo dos receptores, o que o popularizou. O rádio começou a estabelecer sua posição perante o público, que o adotou como entretenimento indispensável. Na guerra pela audiência, os programas já eram preparados antecipadamente, passando a ter horário certo, com artistas e produtores contratados pelas emissoras. No Rio de Janeiro, a maior audiência ainda era da Rádio Mayrink Veiga, que tinha como principal contratado Cesar Ladeira, seguida de perto pela Nacional, que logo conquistaria a hegemonia no país. Em São Paulo rivalizavam as Rádios Record e Cruzeiro do Sul, e ao longo do território nacional surgiam emissoras como as Rádio Voz do Oeste (Cuiabá), Sociedade Rádio Difusora (Campo Grande), Petrópolis Rádio Difusora, Rádio Piratininga e Rádio Difusora (Aracaju). Maria Elvira Bonavita FEDERICO (1982) também estabelece que, no período em estudo, ou de 1935 a 1954, o rádio vivia um novo tempo, onde o popular estava presente (ligado à noção de público e suas necessidades), ao lado do conceito de comunicação de massa (estabelecendo-se mecanismos de produção-consumo, diante da germinação de uma sociedade industrial). Como resultado, as emissoras entraram firme no esquema competitivo e a programação e a música passaram a representar o modo urbano de viver,
consolidando ídolos surgidos na fase anterior, fossem eles locutores, produtores, maestros ou cantores.22 Em 1938, a música popular brasileira vivia uma grande fase e as emissoras tocavam sucessos como “Não tenho lágrimas” (de Max Bulhões e Milton de Oliveira), “Camisa listrada” (Assis Valente), “Touradas em Madrid” (João de Barro e Alberto Ribeiro), “Periquitinho Verde” (Nássara e Sá Rosís) e “Pastorinhas” (João de Barro e Noel Rosa), os quais embalaram - e alguns ainda embalam - carnavais e salões de norte a sul do país. Mesmo assim, havia um grande número de músicas estrangeiras presentes na programação, incluindo jazz, rumba, bolero, blue, foxtrote, valsa, erudita e tango, de variadas nacionalidades. Ao mesmo tempo, o radioteatro consolidava-se e a Rádio Clube de Pernambuco levava ao ar a primeira dramatização nacional em capítulos, “Sinhá Moça”, com Mercedes del Prado no papel-título.23 Os horários das estações já eram preenchidos com programas de auditório, shows com calouros, números musicais, perguntas e respostas, entrevistas e variedades, humorísticos, jornais falados, radioteatros, futebol, infantis e, como remanescência da fase anterior, informativos culturais; o intervalo comercial mesclava entre a seriedade e o coloquial, utilizando jingles, de forma que um maior número de recursos começava a ser disposto. Também em 1938 o Brasil acompava pela primeira vez através do rádio uma Copa do Mundo de Futebol. A Organização Byington (Rádios Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro e São Paulo; Cosmos, de São Paulo; e Clube do Brasil, do Rio) transmitiu com exclusividade, e narração de Gabliano Neto, o Campeonato realizado em Marselha, na França, onde a Seleção Brasileira, comandada por Ademar Pimenta e com Romeu, Tim, Afonsinho, Batatais, Hércules, Nariz, Martim, Peracio, Patesco, Zezé Procópio, Walter, Domingos e Leônidas como principais jogadores, ficou em terceiro lugar. As redes de rádio, hoje expandidas pelo satélite, em 1938 já se consubstanciavam, via coligações e formações de cadeias, principalmente entre São Paulo e Rio. Programas de emissoras maiores muitas vezes eram retransmitidos pelas menores, a partir da captação da programação original 22
Naquela época, trabalhar em rádio, principalmente diante do microfone, garantia projeção ao profissional, como recorda, em entrevista para o desenvolvimento deste artigo (23/12/97), o radialista e professor Sérgio Dillemburg: “Falar no rádio em 38, 40, era uma coisa assim, ser locutor de rádio era muito fechado. Porque aquele que falava no rádio, mesmo o locutor comercial, tinha um destaque, uma projeção, assim como um ator, um artista de televisão, hoje em dia. Então as pessoas procuravam se resguardar, resguardar o nome. A locução era muito impostada, digamos assim. Tinha que ter uma bela voz, tinha que ter impostação, nada de improviso”. 23 Trata-se de uma adaptação de Luiz Maranhão, diretor da emissora, do romance de Mário Sete, “Senhora de Engenho”, constituindo-se no embrião da radionovela brasileira, que teria início só na década seguinte, com "Em Busca da Felicidade", apresentada na Rádio Nacional, do Rio de Janeiro (A "Predestinada", lançada por Oduvaldo Viana, na Rádio São Paulo, em 1941, era semanal; "Em Busca da Felicidade" era diária).
em ondas curtas.24 Em outros casos, scripts de radioteatro e humorísticos eram remetidos das agências cariocas e paulistas para emissoras de outros estados, que então realizavam com elenco local as mesmas produções antes veiculadas pelas estações de maior porte. Além disso, o próprio ouvinte sintonizava emissoras de fora em ondas curtas.25 A Guerra aqui O impacto de “The war of the worlds” foi noticiado já no dia seguinte à sua veiculação, em primeiro de novembro de 1938, pelos jornais brasileiros, que reproduziram os telegramas das agências de notícias Associated Pres e United Press - como de praxe, o rádio nacional transmitiu esse acontecimento a seus receptores por meio da leitura ao microfone dos matutinos. O jornal CORREIO DO POVO assim informou seus leitores sobre o programa, em sua página dois, de 1º/11/38, com o título “Os Estados Unidos eram invadidos pelos marcianos – um programa radiofônico que estabelece verdadeiro pânico entre os ouvintes Yankees”: “Ontem à noite uma estação radiofônica irradiou um programa (...) de uma maneira nitidamente real se representava uma invasão nos EUA, levada a efeito pelos habitantes do planeta Marte. Tão perfeito era o realismo do programa que um verdadeiro pânico se estabeleceu entre os ouvintes (...). (...) Na realidade há razões para essas reclamações. O programa radiofônico, admiravelmente organizado sob o ponto de vista artístico, dava em detalhes o desenrolar de uma invasão de habitantes de Marte na Terra, citando o local, etc. Centenas de pessoas tomadas pelo pânico, corriam pelas ruas, pedindo socorro, sem saberem para que ponto se dirigir. (...)”. O êxito da versão para o rádio da obra de H. G. Wells incentivou que no Brasil produtores buscassem realizar o mesmo programa, em português. No Rio Grande do Sul, coube a Flávio Alcaraz Gomes fazer a versão local de “A Guerra dos Mundos”, na Rádio Guaíba, emissora em que atua até hoje. Evidentemente, essas produções brazucas não obtiveram maior repercussão, pois faltou o elemento novidade: já era sabido que se tratavam de adaptações tupiniquins do radioteatro levado ao ar originalmente pela CBS, nos Estados Unidos. Além do mais, a qualidade do produto era inferior 24
Foi em 1938 que se tornou possível a instalação de estações locais com potência de 100 a 250 W, em pequenas cidades, com menos de 100 mil habitantes. 25 A recepção incluía emissoras de outros países, cidades e estados. Especificamente no Rio Grande do Sul, por sua localização geográfica, era bastante comum a recepção de estações da Argentina e Uruguai.
ao norte-americano.26 O abismo técnico entre os Estados Unidos e o Brasil é apontado como a principal causa para que neste país um episódio radioteatral não tivesse causado um forte efeito, pelo radialista Cândido Norberto, em entrevista para a redação deste texto, em 24/12/97: “A repercussão, para mim, é aquela que ainda hoje se tem ao ler em jornais ou ver em televisão o trabalho que foi feito pelo Welles, na sua terra, naquele tempo, um tipo de programa que seria praticamente impraticável no Brasil ou em outros países. Por quê? Porque já naquele tempo a distância, do ponto de vista técnico, entre os Estados Unidos e o resto do mundo, era imensa, invencível. O rádio de lá dispunha já de recursos técnicos que por aqui nós nem sonhávamos. Aqui se usava, ainda na década de 40, gravadoras covencionais grandes, que gravavam em acetato e que tornavam absolutamente impossível usar num grau aproximado os recursos utilizados por Welles. Imagina uma gravadora, um enorme de um móvel, que gravava em acetato, isso não permitia que se fizesse sonoplastia sequer parecida com a que Welles usou em seu programa”. Tanto corresponde à realidade que a capacidade técnica do final da década de 30 era limitada que só em 11 de abril de 1938 foi produzido o primeiro “programa de montagem”, instituindo o produtor e grandes equipes: o “Curiosidades Musicais”, de Almirante, tinha como patrocinadores os produtos Eucalol.27 As emissoras espalhadas pelo país apresentavam, em 1938, programas como “Discos variados”, “Música sinfônica”, “Rádio baile”, “Hora infantil”, “Orquestra de salão”, “Música seleta”, proporcionando uma programação eclética, muito distanciada do rádio segmentado hodierno.28 O radialista e professor Sérgio Dillemburg, em entrevista a esta pesquisa (24/12/97), defende que não aconteceu um fenômeno semelhante no Brasil não só porque as condições técnicas do rádio nacional eram 26
Concomitantemente, Walter Galvani, em entrevista concedida em 29/12/97, salienta a criatividade do rádio brasileiro daquele tempo: “Não havia recursos de gravação. Nesta época, em 1938, por exemplo, era quase tudo ao vivo. Eles se reuniam no estúdio e interpretavam naquele momento. De repente um ator pegava um caco, uma fase de criação, e enfiava no meio do texto, até melhorando. Enquanto, do outro lado do vidro, na mesa de controle de som, aquilo que se chamava um contra-regra criava os sons que tinham que acompanhar tudo isso. Era fascinante. Coisa fantástica. Bota criação nisso, e na hora, ali”. 27 No mesmo ano, em cinco de agosto, também foi lançado o primeiro programa de auditório da Nacional, “Caxia de Perguntas”, do mesmo Almirante. 28 Na já citada entrevista, Cândido Norberto diz que “o que se está vendo na televisão hoje era a programação do rádio, que migrou. A diferença é que o rádio não tinha imagem e a televisão tem, porque os textos são os mesmos”.
inferiores, mas porque o próprio ouvinte não estava preparado para tal. Ele acredita que o público pouco se interessaria por programas mais elaborados, já que estava acostumado com uma programação mais simples. Lembra ainda que qualquer impacto de um bem simbólico radiofônico seria pequeno, porque o número de pessoas que ouviam rádio era reduzido e o meio ainda não possuía credibilidade para convencer. A questão técnica também é recordada pelo radialista Ary Rego como um ponto central para que, em 1938, o Brasil não pudesse produzir radioteatros que provocassem comoção popular. Relacionando este item com a programação da época, ele pondera, conforme entrevista para este projeto, em 30/12/97, que os programas de então eram muito simples 29 e que a própria população não estava preparada para o consumo de um produto diferenciado, de maior dificuldade de compreensão, no estilo de “The war of the worlds”, preferindo os humorísticos, que não exigiam tanto raciocínio, no que concorda com Dillemburg. De acordo com entrevista para esta investigação, realizada em 29/12/97, o radialista Walter Galvani, relembrando o final da década de 30, coloca o sucesso de “The war of the worlds” como o resultado pessoal do gênio criativo de Orson Welles, considerando um fator preponderante para que a mobilização do rádio nacional não alcancasse o patamar do estadunidense justamente a inexistência de um valor como o dele, mesmo reconhecendo que as condições técnicas dos Estados Unidos, na época, eram superiores às brasileiras: “Eu acho que só faltou o talento do Orson Welles, porque realmente, foi uma coisa fantástica. Mas acho que não tínhamos no Brasil, naquele momento, pelo menos que se saiba, nas grandes emissoras, das grandes cidades, um talento daquela envergadura do Orson Welles para fazer um tipo de trabalho como aquele. Basta ver que o Orson Welles, depois, desdobrou toda uma longa jornada na área cinematográfica, onde ele realizou filmes extraordinários. Acho que é isso que faltou, porque é com os poucos recursos de um estúdio que se faz tudo aquilo. Com um bom contra-regra, como se chamava na época, que você produz os sons necessários e está feito, está armado o grande circo 29
Rego rememora também que no rádio gaúcho e de outras localidades de então faziam sucesso programas de dedicatórias: “A pessoa chegava, pagava uma quantia e fazia uma dedicatória. Cada emissora tinha seus impressos prontinhos para datilografar, com nome, endereço, idade. Algumas emissoras tinham sua maior fonte de renda em cima das dedicatórias”. Dedicar músicas ainda hoje é uma possibilidade em muitos programas de emissoras voltadas para segmentos mais populares, só que sem pagamento. Ao mesmo tempo, sobrevivem em algumas emissoras do interior, situadas em regiões com distritos agrícolas, espaços de transmissão de recados pagos, como ocorre na Rádio Cultura, de Pelotas (RS).
do terror ou da aventura, seja lá o sentido que queira se dar. Talvez até hoje as condições técnicas dos Estados Unidos ainda sejam melhores. Mas, de qualquer maneira, basta ver a maneira como o programa foi feito, pois ele usou efetivamente o poder da palavra e algum efeito de som. Você faz uma tempestade com uma folha de papel”. O somatório dos documentos trabalhados e do conjunto das entrevistas efetuadas conduz ao entendimento de que o desenvolvimento da radiodifusão brasileira de 1938 já se colocava num patamar de evolução técnica, cujas insuficiências eram ultrapassadas por soluções alternativas. Simultaneamente, o país industrializava-se, e urbanizava-se, criando um público crescente para a rádio, que, numa relação de partilha, oferecia uma programação progressivamente constituída com maiores cuidados ao receptor, o qual completava o processo ligando-se cada vez mais nos produtos ofertados e depositando maior confiança no meio. Buscando a conclusão da Guerra As possibilidades de explicação para que o Brasil não reprisasse um acontecimento radiofônico da dimensão da experimentada nos Estados Unidos, na noite de “Halloween”, são muitas e variam entre dissimilitude tecnológica, ausência de um talento como o de Orson Welles e dessemelhança inclusive entre os públicos de um e outro país. O certo é que entre um e outro havia, em 1938, um fosso de separação, o que torna a tentativa de comparação difícil - e mais complicada é a busca por se desenvolver analogias sabendo-se que esse precipício que separa as duas nações é anterior ao tempo em análise e mantém-se até hoje. Desta forma, reduzir a questão a uma única causa não garante o entendimento de sua complexidade. É verdade que as diferenças técnicas entre um e outro país eram grandes, mas até hoje há pelo menos um buraco tecnológico entre eles, embora atualmente qualquer inovação difunda-se com uma velocidade muito maior. Além do mais, a criatividade brasileira tem superado a maioria das deficiências, como atestam o padrão da televisão e da publicidade nacionais. Pergunta-se se a produção de Orson Welles reunia tantos efeitos de difícil realização que se tornava impossível sua feitura pelo espírito criativo brasileiro. Se a barreira tecnológica não se constitui num obstáculo intransponível é, como se afirmou, justamente pela capacidade do homem de rádio (e de outras áreas de atuação humana) do Brasil de inventar, de substituir a deficiência pelo espírito inovador. Portanto, parece menos plausível qualquer ponderação que pretenda explicar a não ocorrência de uma “A guerra dos mundos” local pela inexistência de um Welles
tupiniquim. Em realidade o talento varia de homem para homem, mas no Brasil sempre pipocaram expressões de primeira grandeza, responsáveis por momentos inesquecível do rádio nacional.30 Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que, de alguma forma, apesar das carências, e do próprio caráter de apelo popular, os ouvintes brasileiros, nesta segunda fase do rádio, já possuíam algum tipo de intimidade com radioteatros (que não raras vezes reproduziram radiofonicamente textos clássicos), que, ainda que não se constituíssem em produções muito sofisticadas, davam ao receptor condições para que pudesse interagir com bens no estilo de “A Guerra dos Mundos”. Conseqüentemente, produções nessa linha já tinham um público ascendente preparado para tal. Acrescenta-se que, em 1938, o Brasil ainda possuía uma grande maioria agrícola, mas já havia público urbano em crescimento, pela industrialização incentivada por Vargas, mas deve-se pensar se efetivamente um fenômeno como o ocorrido com a irradiação da CBS em 31 de outubro de 1938 não esbarraria no isolamento a focos. Por outro lado, mesmo com as massas em gestação, o rádio brasileiro já dispunha de um envolvimento com os ouvintes que, nessas trocas, certamente permitiria o segundo ser convencido pelo primeiro - talvez até os brasileiros confundissem com mais facilidade os gêneros ficção e jornalismo. Tentando concluir, repisa-se, sem uma única definição, que o rádio brasileiro de 1938 não protagonizou um episódio que arregimentasse sentimentos como medo e pânico porque não reuniu todas as condições históricas que permitissem tal fato, em um mesmo momento e tempo - a própria experiência norte-americana serviu de alerta. O certo é que, a despeito disso, o rádio nacional no período já tinha dado o passo indispensável para sua consolidação, tendo ingressado na fase que, fundamentalmente a partir de 1940, gerou uma programação inolvidável, por sua qualidade, para deleite daqueles que puderam ouvi-la. Bibliografia BELLI, Zenilda P. B. Leite. Radionovela: análise comparativa na radiodifusão na década de 40. São Paulo, 1980. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Escola de Comunicações e Artes, USP. CORREIO DO POVO. Porto Alegre, jan.-dez. 1938. FEDERICO, Maria Elvira. História da comunicação: rádio e TV no Brasil. Petrópolis : Vozes, 1982. JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, jan.-dez. 1938. LOPES, Mário Borja. O borbulhar do gênio. Revista Abert, São Paulo, n. 26, p. 16-17, out. 1987. 30
Renato Murce, José Blota Junior, Cesar Ladeira, Oduvaldo Cozzi, Ari Barroso, Otávio Gabus Mendes, Saint-Claire Lopers são alguns dos profissionais que atuavam no período e legaram programas lendários.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. La comunicación desde la cultura: crisis de lo nacional y emergencia de lo popular. Trabalho apresentado no SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE CULTURA TRANSNACIONAL, CULTURAS POPULARES Y POLÍTICAS CULTURALES, Bogotá, 1995. MURCE, Renato. Bastidores do rádio: fragmentos do rádio de ontem e de hoje. Rio de Janeiro : Imago, 1976. VAMPRÉ, Octávio Augusto. Raízes e evolução do rádio e da televisão. Porto Alegre : Feplam/RS, 1979.
11. Os intelectuais diante do rádio nos anos 30 e 40 O rádio é o grande fenômeno da comunicação de massa na época de A Guerra dos Mundos. Os intelectuais da época se dividiram entre o fascínio com as suas possibilidades expressivas, a preocupação com o seu uso político e o desprezo por seu valor cultural.
por Valci Zuculoto Jornalista, Mestre em Comunicação e Professora da Universidade Federal de Santa Catarina.
A década de 30, principalmente nos seus últimos anos, pode ser considerada a fase de consolidação do novo meio de comunicação especialmente em termos de transmissão organizada, regulamentada e de avanços na qualidade de emissão e recepção, no estabelecimento de programações buscando linguagens e técnicas próprias, específicas ao veículo. É o período em que o fenômeno rádio adquire dimensões mundiais, levando a milhões de ouvidos atentos principalmente "soap-operas", seriados, radioteatro, literatura radiofônica e muita programação musical. É a era do rádio, a era do rádio-espetáculo numa sociedade em crescente industrialização, em constante crescimento urbano e já possuidora de grandes massas assalariadas. Existiam, naquele tempo, mais de 40 milhões de aparelhos receptores no mundo, número que representava uma audiência realmente de massa. Também é a década em que o rádio incorpora de vez, às suas programações, o informativo jornalístico e a publicidade. Nos anos 30, enfim, o rádio começa a viver o que foi considerada a sua "época de ouro", cujo apogeu aconteceu nos anos 40. O rádio, então, instala-se definitivamente como mais um membro de milhões e milhões de famílias mundo afora. Natural, portanto, que houvesse grande preocupação sobre o que fazer e como entender fenômeno tão abrangente. Mas parece que tal preocupação se restringiu a buscar principalmente respostas e entendimentos pragmáticos. O que mais se quis foi tentar aperfeiçoar tecnicamente o rádio, suas programações, suas linguagens, seus recursos, suas formas de produção, seu aparato tecnológico tanto de emissão quanto de recepção. Naquela época, foram poucos os estudos e análises sobre o que significava, principalmente em níveis sócioculturais, o surgimento e a consolidação deste meio como uma das expressões mais características da cultura de massas. Para tanto, recortamos esta busca na análise de textos de três dos poucos autores que, nos anos 30 e começo dos 40, efetivamente pensaram e discutiram o rádio, não ficando apenas na simples descrição: Bertolt Brecht, Rudolf Arnheim e Theodor Adorno. Selecionamos um texto de cada um desses três autores, os que foram escritos e divulgados em anos próximos à emissão de “A Guerra dos Mundos”. São três obras que expressam, sobre o novo veículo de comunicação, leituras e entendimentos por vezes convergentes, mas em outras bastante diversos, quando não antagônicos, Brecht traz para o debate uma concepção que vislumbra a possibilidade de uma utilização sócio-política-ideológica do rádio. Um uso que o tornasse um veículo revolucionário em favor das classes dominadas e um instrumento de transformações sociais. Para Brecht, o rádio poderia desenvolver este potencial se não fosse usado apenas como veículo de transmissão unilateral, mas sim como meio realmente de comunicação, num processo comunicativo em que o receptor fosse atuante e não ficasse
passivo, apenas recebendo a mensagem, forma de recepção que acabou cristalizada na radiofonia. Arnheim também vê o veículo como revolucionário, mas principalmente no sentido estético. Por isso, entende o rádio muito mais do que um meio de transmissão e divulgação, creditando-lhe a característica de ser um meio de expressão artística, teórica... "Cativa-me muito mais o tema rádio como meio de expressão. Proporciona ao artista, ao amante da arte, ao teórico uma nova experiência..." (ARNHEIM, 1936:16). Enfim, para ele o rádio é arte. E Adorno coloca o rádio naquele que acredita ser o seu devido lugar, o de mais um instrumento da indústria cultural 1 - embora naquela época ainda nem use este conceito -, um produto das relações de mercado, um bem de consumo, uma manifestação coisificada. Investigando o rádio através de teses sobre a música nele tocada, Adorno estudou o veículo em especial através da crítica às pesquisas científicas sobre comunicação de massa que então se desenvolviam nos Estados Unidos. Exilado naquele país, Adorno integrou o "Princeton Rádio Research Project", dirigido por Paul Lazarsfeld, e acabou entrando em confronto com ele: "o interesse que guia este tipo de pesquisa é basicamente o da técnica administrativa: como manipular as massas" (apud ORTIZ, 1985:11). Foi participando do projeto radiofônico de Lazarsfeld e desenvolvendo teses sobre o rádio norte-americano que ele chegou a conclusão de que, nos Estados Unidos dos anos 30, já haviam se concretizado os antigos prognósticos de Max Weber sobre o "desaparecimento do homem culto no sentido europeu" (ADORNO, 1995:152). Estas concepções diferenciadas foram captadas fundamentalmente em um texto da época de cada um dos três autores. A visão de Brecht está claramente expressa em "The Radio as an Apparatus of Communication", com publicação original em 1932 e reproduzido por Neil Strauss, organizador do livro Radiotext(e), de 1993. As concepções de Arnheim foram buscadas na edição espanhola de 1980 do seu livro "Estética Radiofónica", escrito em 1933 e editado pela primeira vez em 1936. Neste livro, debruçamo-nos especialmente na introdução de 1933 e no capítulo intitulado "Elogio de la ceguera: liberaciòn de los cuerpos".
- O próprio Adorno, em seu texto “A Indústria Cultural” ( in COHN, 1986:92-99), diz que o termo foi empregado pela primeira vez no livro Dialektik der Aufklärung, que ele e Horkheimer publicaram em 1947, em Amsterdã. Antes, Adorno e Horkheimer tratavam da questão referindo-se à “cultura de massa”. Mas substituíram estas expressão por “indústria cultural” para evitar que fosse interpretada, na opinião de Adorno equivocadamente, “como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea da arte popular”. Conforme Adorno, a indústria cultural se distingue radicalmente dessa arte. Na concepção adorniana, “as mercadorias culturais da indústria se orientam [...] segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio conteúdo e sua figuração adequada. Toda a prática da indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais”.
De Adorno, escolhemos "A Social Critique of Radio Music", conferência que realizou para colaboradores do "Radio Research Project" em 1940 e publicou originalmente em 1945. O estudo também está reproduzido em Radiotext(e) (STRAUSS, 1993). A "utopia" de Brecht "se vocês acharem que tudo isso é utópico, eu lhes peço: ´perguntem por que tudo isso é utópico`..." Bertolt Brecht (apud PEIXOTO, in SPERBER, 1980:7) Tanto ouvindo rádio como escrevendo ou adaptando peças radiofônicas, Brecht chegou a entender o meio como produto e também produtor da indústria cultural. No seu ensaio "The radio as an Apparatus of Communication" (in STRAUSS, 1993:15-17), ele admite ser este o papel desempenhado pela radiofonia, principalmente ao caracterizar o público daquela época (início dos anos 30) como uma juventude fútil e alienada. Isto depois de descrever o rádio, na sua fase inicial, como um substituto para teatro, óperas, concertos, leituras. Brecht vê o rádio dos anos 30 assumindo funções duvidosas e critica o fato de ser utilizado como objeto para "embelezar” a vida das pessoas. Mesmo admitindo este contexto, Brecht ousa sonhar com um uso revolucionário para o rádio: "A radiodifusão poderia ser transformada de aparelho de distribuição em aparelho de comunicação. Poderia ser o mais fantástico meio de comunicação imaginável na vida pública, um imenso sistema de canalização. Quer dizer: isto se não somente fosse capaz de emitir, como também de receber; em outras palavras, se conseguisse que o ouvinte não se limitasse a escutar, mas também falasse, não ficasse isolado, mas relacionado" (BRECHT, in STRAUSS, 1993:15). Ao pregar a construção deste potencial para o rádio enquanto meio de comunicação, Brecht entende o veículo como um instrumento políticoideológico e, por conseqüência, que não seria possível a sua exploração desta forma numa sociedade capitalista. Em "The Radio as an apparatus of Communication", não chega a debater profundamente esta questão, mas concorda que se trata de uma visão utópica e dá a entender que a propõe para uma outra ordem social. Mais ainda, sugere que essa outra destinação da radiofonia poderia, mesmo na presente sociedade, servir de instrumento para pregar a transformação social. E isto se concretizaria com o rádio emitindo efetivamente a realidade, de forma a evidenciar as contradições da
sociedade. Ou seja, se o rádio não fosse utilizado apenas como porta-voz da classe dominante. Brecht pregava um rádio contestatório. O papel realmente revolucionário imaginado por Brecht para o rádio até hoje muitas vezes serve de guia nas infindáveis batalhas por meios de comunicação democráticos ou no mínimo mais respeitadores do seu público. Porém, com certeza, o que Brecht propõe não é a busca de "feed-back” pelo qual tantos "comunicadores" se empenham em seus projetos radiofônicos, em suas formas de fazer rádio. Também não deve significar o simples controle e apropriação da radiodifusão pela sociedade. Senão estaríamos transformando o sonho em realidade no momento em que ocorresse a tão reivindicada reforma agrária no ar pela qual clamam as chamadas rádios piratas, rádios livres e mais recentemente as rádios comunitárias. O que Brecht realmente queria era transformar o rádio, num primeiro momento, em veículo incentivador, propagador de mudanças sociais, e posteriormente, em outra sociedade, num real canal de comunicação. Quanto ao uso do rádio como instrumento de propaganda políticoideológica, como veículo propagador de mudanças nas relações de poder, Brecht não chegou a ser utópico. Exemplo concreto de que o veículo abriga este potencial e que é perfeitamente possível explorá-lo, vamos encontrar naquela época mesmo, na Europa, com o uso do rádio pelo nazismo e fascismo. O nazi-fascismo não utilizou o rádio no sentido libertador sonhado por Brecht, mas demonstrou que a visão brechtiana sobre o potencial deste meio poderia concretizar-se e atender aos interesses de quem dele se apropriasse. E fez isso de uma forma mais contundente que o próprio Orson Welles com seu programa "A Guerra dos Mundos". A análise é de McLuhan (1964:337): "As profundidades subliminares do rádio estão carregadas daqueles ecos ressoantes das trombetas tribais e dos tambores antigos. Isto é inerente à própria natureza deste meio, com seu poder de transformar a psique e a sociedade numa única câmara de eco. A dimensão ressonadora do rádio tem passado despercebida aos roteiristas e redatores com poucas exceções. A famosa emissão de Orson Welles sobre a invasão marciana não passou de uma pequena mostra do espaço todo-inclusivo e todo-envolvente da imagem auditiva do rádio. Foi Hittler quem deu ao rádio o real tratamento wellesiano. Hittler só teve existência política graças ao rádio e aos sistemas de dirigir-se ao público".
A arte de Arnheim Rudolf Arnheim também entendeu o rádio como revolucionário, mas numa concepção diversa da brechtiana. Arnheim se encantou com a estética do rádio e viu nela arte. E arte própria, pura, não apenas um meio reprodutor de outras artes. Mesmo assim, dificilmente pode-se considerar o pensamento de Arnheim como utópico. Inclusive ele nem chega a caracterizar o veículo textualmente como arte. Prefere, na introdução de 1933 do seu livro "Estética Radiofónica" (1936:16), referir-se ao veículo como "meio de expressão", como "uma nova forma de expressão" artística. Nesta introdução, o deslumbramento de Arnheim pelo novo veículo e sua visão do rádio também como um meio de transmissão cultural estão expressos logo de início. Arnheim começa narrando um momento de uma pequena vila de pescadores no sul da Itália, onde um receptor de rádio num Café permite a homens que jamais viajaram ao estrangeiro ou mesmo para grandes cidades, ouvirem música francesa e alemã. "Esta é a maior maravilha do rádio: a grande ubiqüidade que possui; a música e as conversas transpõem fronteiras, vencem o isolamento imposto pelo espaço, importam cultura aos países usando as invisíveis asas das ondas, ao mesmo custo para todos" (ARNHEIM, 1936:15-16). Apenas esta declaração entusiasmada de Arnheim já pode evidenciar que entendia o rádio como um meio capaz de divulgar informação, transmitir cultura, conhecimento e de uma forma abrangente, sem elitismo. Porém, Arnheim não discute que tipo de informação e cultura são transmitidas e com quais objetivos. Ampla e aprofundadamente vamos ter esta crítica em Adorno, de cujo pensamento nos ocuparemos mais adiante. Mais superficialmente, Brecht também coloca a questão, em ensaio intitulado "A Exploração" (in LAVOINNE, s.d.:41), ao discutir "como explorar a arte pelo rádio e o rádio pela arte". Brecht não chega ao ponto de classificar o rádio como arte, mas passa o entendimento de que encontra no veículo potenciais para o desenvolvimento das artes. Só que o central mesmo neste seu ensaio é o questionamento, que ele coloca como muito mais importante, sobre a exploração, em geral, da arte e do rádio. E para tamanho problema sua resposta é rápida e concisa: "A resposta a esta questão, se é que temos razão ou alguém no-la concede, será a seguinte: a arte e o rádio devem ser postos à disposição de projetos didáticos. Não parece que seja possível, hoje em dia, tornar efetiva uma exploração diretamente didática da arte,
visto que o Estado não tem interesse em educar a juventude na perspectiva do coletivismo" (BRECHT, in LAVOINNE, s.d.:41). Embora se declarando um entusiasta do rádio como meio de transmissão e divulgação, Arnheim expõe um deslumbramento maior pelo "meio de expressão" que ele vê no veículo. É para o rádio como tal que Arnheim dedica praticamente todo o seu livro. Mas é no capítulo "Elogio da cegueira" que aprofunda mais seu entendimento do rádio como arte. Arnheim (1936:84-85) explica este seu pensamento a partir da "lei geral da economia na arte", segundo a qual uma obra deve dispensar tudo o que não seja realmente essencial para sua criação, sua expressividade. E o rádio, por sua estética que prescinde totalmente do visual, trabalhando única e exclusivamente com o audível, tem potencial para seguir à risca esta lei. Ele dá a entender que o rádio pode, nesta forma de expressão artística, até superar a música tocada por orquestras, por exemplo. Isto porque, neste momento, as imagens dos músicos acabam por se constituir em complementos visuais desnecessários e perturbadores da captação da essência da obra musical (Arnheim, 1936:90-91). E recorre a Goethe para ajudar nos seus argumentos em favor da arte radiofônica que elogia a cegueira, liberando os corpos: "A verdadeira música é para ser somente ouvida. Quero ver a todos a quem devo falar. Porém, ao contrário, quem cantar para mim há de permanecer invisível, sua presença não deve nem seduzir-me nem equivocar-me" (GOETHE, apud ARNHEIM, 1936:89-90). Entretanto, Arnheim condena a simples retransmissão de óperas, apresentações teatrais. Afinal, estas, para cumprirem suas finalidades expressivas, precisam expor ao público suas idéias visuais. O que ele defende são produções próprias para o rádio. Ou seja, criações específicas ou adaptações que tenham toda a produção e a linguagem adequadas às particularidades do veículo. Se não for assim, o rádio estará apenas transmitindo arte e não fazendo arte. Certamente por isso, ao falar do rádio como meio de expressão artística, Arnheim se refere principalmente ao radioteatro, aos programas musicais. Enfim, é o fato de o rádio se expressar exclusivamente através do audível que o torna capaz de oferecer a totalidade, dispensando acessórios. Somente assim, estaríamos fazendo o rádio vislumbrado por Arnheim: "A obra radiofônica, apesar de seu caráter abstrato e oculto, é capaz de criar um mundo próprio com o material sensível de que dispõe, atuando de maneira que não se necessite nenhum tipo de complemento visual..." (ARNHEIM, 1936:86).
Arnheim pode ter sido igualmente utópico ao profetizar o rádio como arte. Mas com apenas um livro sobre o veículo - este seu "Estética Radiofônica" - até hoje pode ser considerado também como um dos que mais se arriscou a pensar o rádio quanto as suas possibilidades estéticas, de alcances, de linguagens, de comunicação. E isto ainda nos seus primórdios. A crítica de Adorno Se em Brecht e Arnheim encontramos críticas ao rádio e seus usos, mas também - e principalmente - até previsões otimistas, sonhos e utopias quanto a possibilidade de ampliar e até reverter as utilizações restritas do veículo, em Adorno temos crítica marcada por um pessimismo e pela negação de qualquer possível emprego verdadeiramente sócio-cultural, libertário, não manipulador da radiofonia e do seu público. Assim, em muitas de suas análises sobre a música no rádio, constatamos contraposições frontais aos pensamentos de Brecht e Arnheim. Bem ao contrário de ver o rádio como arte, por exemplo, no artigo "A Social Critique of Radio Music" (in STRAUSS, 1993:279), Adorno argumenta que uma sinfonia, nas ondas radiofônicas, transforma-se em nada mais do que mera peça de entretenimento: "...é absurdo dizer que possa ser recebida pelo ouvinte como qualquer coisa além de entretenimento... cria artificialmente no público a ilusão de que esteja recebendo a melhor música do mundo..." (ADORNO, in STRAUSS, 1993:279). E é nada mais do que entretenimento porque, no entender de Adorno, a música no rádio constitui mercadoria, numa função diversa da música como arte. Uma nova função de produzir presunção e auto-satisfação. Desta forma, tem "um efeito suporífero sobre a consciência social" (ADORNO, in STRAUSS, 1993:275). Acaba criando, no ouvinte, a ilusão de que está recebendo cultura e isto o satisfaz, funciona como uma compensação por perdas, frustrações. Apesar de ainda não usar o conceito indústria cultural, na sua análise sobre a música no rádio, Adorno já aponta sua lógica, pois, afinal, coloca-a como um bem estandardizado, produzido em massa, numa sociedade de mercadorias. Conforme Adorno, a música é ouvida como outros bens de consumo, é um fetiche: "O ouvinte suspende toda a atividade intelectual quando se relaciona com a música e se satisfaz consumindo e avaliando suas qualidades gustatórias, como se a música com melhor gosto fosse também a melhor música possível" (ADORNO, in STRAUSS, 1993:274).
Assim, coloca o rádio e sua música como mais um bem da cultura de massas, onde o que impera é a lei mercadológica, o valor de troca, a produção estandardizada para atender a este processo que desemboca apenas no entretenimento. Por ter essa concepção não só da música como do que chama a indústria da comunicação, Adorno realmente não pode entender o rádio como arte. Ele enxerga o caráter mercantil da música radiofônica também ao analisar os programas musicais, observando na maioria deles uma "assombrosa" similaridade. Além disso, questiona se a distribuição massiva da música realmente vai resultar num aumento da cultura musical. E entendendo a música radiofônica como mercadoria, não como arte nem como cumpridora de uma função social, Adorno não pode admitir transmissão cultural no rádio. Diz que "sob a égide do rádio acontece uma regressão do público" (ADORNO, in STRAUSS, 1993:276). Para ele, os ouvintes assumem personalidades regressivas e infantis, assim como acontece quando consomem outros "bens culturais" da sociedade que vive uma cultura de massas. Mesmo se o rádio toca música "séria", no entendimento de Adorno (in STRAUSS, 1993:278) ela acabaria sendo ouvida como entretenimento, porque esta é a lógica da música radiofônica como produto da indústria cultural. No seu estudo, ainda coloca o argumento de que a sinfonia é incompatível com o rádio porque ele não dá conta de todas as relações temáticas e dinâmicas da performance desta música. É importante ressaltar que Adorno faz esta crítica social da música radiofônica discordando do "Princeton Radio Research Project", de Paul Lazarsfeld, embora o integrasse. Chamou as pesquisas propostas pelo projeto de administrativas, porque apenas buscavam saber como o público reage, testar os efeitos do rádio de então. E isto para, em conseqüência, conseguirem recomendar determinados tratamentos que provoquem os efeitos desejados. Seriam, portanto, semelhantes a pesquisas de mercado, tendo o interesse de, na verdade, descobrir como "manipular as massas" (ADORNO, in STRAUSS, 1993:272). São pesquisas que, entre outros objetivos, querem detectar como levar boa música aos ouvintes, mas não questionam o que é boa música. Ao constatar isso, no seu artigo, resultado de uma conferência proferida aos próprios integrantes do "Princeton Radio Research Project", Adorno argumenta que a questão de levar boa música para o maior público possível não pode ser resolvida através deste tipo de pesquisa. Justifica que para se estudar as atitudes dos ouvintes é preciso analisar o comportamento dos estratos sociais condicionados pela estrutura e também o comportamento da sociedade como um todo. Somente tal procedimento nos levaria a uma verdadeira crítica social do rádio, situando o novo meio de comunicação da época dentro da lógica mercadológica da sociedade de massas, que faz e consome a comunicação como uma mercadoria.
Na concepção de Adorno (in STRAUSS, 1993:273), portanto, o rádio nos anos 30 e 40 é apenas entretenimento, bem de consumo, embora dê a ilusão de que está transmitindo informação, cultura, conhecimento. Por esta ilusão e pelo fato da estandardização não ser produzida abertamente, mesmo tendo perdido sua liberdade de escolha por causa destes fatores, o ouvinte não reconhece que é totalmente dependente. Preserva apenas uma ilusão de que tem iniciativa e livre escolha. Reflexões importantes para entender o rádio Adorno, Arnheim e Brecht refletiram sobre o rádio justamente num dos períodos mais importantes para o entendimento da trajetória e da função deste meio de comunicação na sociedade: a fase em que o veículo se implantou e começou a viver seu apogeu e sua consolidação definitiva. A época em que Orson Wells, com seu programa “A Guerra dos Mundos”, mesmo que não com este claro e determinado objetivo, ajudou a demonstrar que a sociedade de então havia produzido um poderoso meio de comunicação de massa, capaz de interferir no próprio processo de formação e desenvolvimento desta sociedade. E isto não apenas no nível cultural, mas em todos os demais que estabelecem o processo, entre os quais o econômico, o político, o social. É claro que apenas com estes três textos aqui apresentados, Adorno, Arnheim e Brecht não dão conta de evidenciar profunda e integralmente como foi a trajetória e o desenvolvimento do rádio naquela época. Mas suas reflexões nos apontam pistas enormes, que quanto mais alimentarem linhas de investigação mais permitirão um avanço nos ainda poucos estudos acerca do rádio. E embora principalmente Brecht e Adorno já tenham sido utilizados no embasamento de boa parte desses estudos, as reflexões destes três teóricos continuam a dar margem à exploração de muitas outras questões radiofônicas ainda não abordadas ou estudadas apenas parcialmente. Evidenciamos aqui que os três pensadores expressaram leituras diversas e, às vezes, inclusive antagônicas acerca do rádio da década de 30. Entretanto, a diversidade de seus pensamentos nem sempre pode ser interpretada como excludente. Bem ao contrário, na maior parte permite complementações que, por sua vez, possibilitam um entendimento mais amplo do que significou aquele tempo pioneiro e precursor do poderoso fenômeno de comunicação de massa que foi o rádio da época em que uma peça de radioteatro conseguiu espalhar o pânico nos Estados Unidos. No caso específico da emissão de “A Guerra dos Mundos”, é possível concluir que o impacto que causou poderia ter sido previsto - ou estava previsto - pela visão brechtiana do potencial radiofônico, a partir da qual pode-se entender o rádio não apenas como um produto da sociedade, mas
que atua nela também como produtor de processos psicossociais, políticos, econômicos etc. Ou seja, se Welles leu Brecht e concordou com suas reflexões, sabia que estava prestes a provocar um grande impacto ao produzir seu “ A Guerra dos Mundos”. O que realmente talvez não fosse possível era prever a extensão do choque da fictícia invasão dos marcianos. Em Arnheim também podemos encontrar evidências dos efeitos que Welles produziria, especialmente quando o autor de “Estética Radiofônica” reflete sobre a necessidade de que o “meio de expressão” rádio seja desenvolvido com criações ou adaptações que tenham produção e linguagem totalmente adequadas às particularidades e especificidades do veículo. É bom lembrar que, para Arnheim, o rádio, através dos seus recursos e características, é capaz de criar um mundo próprio. Quer dizer, como aconteceu com “A Guerra dos Mundos”, pode mexer com o imaginário do ouvinte ao ponto de fazê-lo acreditar numa realidade que só existe nas imagens mentais que o rádio tem poder de construir. E na crítica de Adorno que, aliás, foi feita depois da emissão de Welles, detectamos que já naquela época era possível, através de seus textos, encontrar caminhos e contribuições para investigar efeitos da comunicação radiofônica. Com um entendimento classificado de elitista e pessimista, Adorno já então alertava para as possibilidades manipuladoras e para o uso puramente comercial do rádio. Como podemos ver, assim, os textos dos três autores trazem subsídios e referenciais importantes não apenas para o entendimento do contexto da época da emissão de “A Guerra dos Mundos”, mas também para a própria compreensão e pesquisas da trajetória do rádio 60 anos depois. Bibliografia ADORNO, Theodor. A Social Critique of Radio Music in STRAUSS, Neil (org.), Radiotext(e). New York, Semiotext(e), 1993. ADORNO, Theodor. Palavras e Sinais Modelos Críticos 2. Petrópolis, Vozes, 1995. ARNHEIM, Rudolf. Estética Radiofónica. Barcelona, Gustavo Gili, 1936. BRECHT, Bertolt. A Exploração in LAVOINNE, Yves (org.). A Rádio. Lisboa, Vega, s.d. BRECHT, Bertolt. The Radio as an Apparatus of Communication in STRAUSS, Neil (org.). Radiotext(e). New York, Semiotext(e), 1993. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo, Cultrix, 1964.
ORTIZ, Renato. A Escola de Frankfurt e a Questão da Cultura. São Paulo, RBCS, nº 1, vol. 1, jun. 1986. SPERBER, George Bernard (org.). Introdução à peça radiofônica. São Paulo, E.P.U., 1980. Outras obras consultadas ADORNO, Theodor. A Indústria Cultural in COHN, Gabriel (org.). Sociologia. São Paulo, Ática, 1986. ADORNO, Theodor. Moda sem Tempo: sobre o Jazz. Rio de Janeiro, Revista Civilização Brasileira, 1967. ADORNO, Theodor. Sobre Música Popular in COHN, Gabriel (org.). Sociologia. São Paulo, Ática, 1986. FAUS BELAU, Angel. La Radio: Introducion a un medio desconocido. Madri, Editorial Lima, 1981. MEDITSCH, Eduardo Barreto Vianna. A Especificidade do Rádio Informativo. Tese de Doutoramento em Ciências da Comunicação, Lisboa, 1996.
Parte III: O Legado
12. Ok, marcianos: vocês venceram! A experiência de Orson Welles permitiu que várias características do rádio pudessem ser analisadas e posteriormente utilizadas - ou evitadas - conscientemente. Deixou patente, acima de tudo, a responsabilidade do comunicador em relação `a mensagem que emite e suas consequências.
por Gisela Swetlana Ortriwano Jornalista, Doutora em Comunicação e Professora da Universidade de São Paulo. Publicou A Informação no Rádio (Summus, 1985) e Radiojornalismo no Brasil: dez estudos regionais (COM-Arte, 1987)
“No início do século XX o mundo estava sendo atentamente vigiado por inteligências superiores à do homem, mas igualmente maléficas. Enquanto os humanos desempenhavam suas atividades quotidianas eram observados, tão minuciosamente quanto o homem com seu microscópio pode examinar as criaturas que se multiplicam em uma gota d’água...” Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra como verdade New York Times, 01.11.38 Nove horas da noite de 30 de outubro de 1938. Durante 40 minutos, a CBS - Columbia Broadcasting System - e suas afiliadas de costa a costa, dentro do programa Radioteatro Mercury, transmite A invasão dos marcianos. Adaptada da obra A guerra dos mundos de H. G. Wells (18661946), centenas de marcianos chegam em suas naves extraterrestres a uma pequena cidade de New Jersey chamada Grover’s Mill. Os méritos públicos da adaptação, produção e direção do programa foram para sempre creditados ao então jovem e quase desconhecido ator e diretor de cinema Orson Welles (1915-1985). E a história do rádio passou a ter um antes e um depois... Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos Daily News, 01.11.38 Pânico: marcianos virtuais atacam terráqueos reais No especial do Raditeatro Mercury da véspera do Dia das Bruxas de 1938 - denominado Mercury’s Halloween Show -, através dos sons, foi representada uma invasão de marcianos do ponto de vista de uma cobertura jornalística. Todas as características do radiojornalismo usadas na época - às quais os ouvintes estavam habituados e nas quais acreditavam - se faziam presentes: reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de especialistas e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos, a emotividade dos envolvidos, inclusive dos pretensos repórteres e comentaristas, davam a impressão de um fato real, que estava indo ao ar em edição extraordinária, interrompendo outro programa, o radioteatro previsto.31 Na realidade tratava-se do 17º programa da série semanal de adaptações radiofônicas realizadas por Orson Welles e o Radioteatro Mercury (ou Teatro Mercury no Ar) que explorava as técnicas jornalísticas com a ambientação sonora requerida. “O impacto foi tal que mesmo Orson Welles se surpreendeu quando milhares de pessoas saíram às ruas, angustiadas e em 31
Simon, William G. “The Man and the Myth”. In: New York university Magazine, Inverno 1987, p. 22.
pânico; algumas, desejosas de testemunhar um fato que, acreditando verdadeiro, lhes parecia significativo e histórico.”32 A CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de seis milhões de pessoas, das quais metade passaram a sintonizá-lo quando já havia começado, perdendo a introdução que informava tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2 milhão tomaram a dramatização como fato verídico, acreditando que estavam mesmo acompanhando uma reportagem extraordinária. E, desses, meio milhão tiveram certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico e agindo de forma a confirmar os fatos que estavam sendo narrados: sobrecarga de linhas telefônicas interrompendo realmente as comunicações, aglomerações nas ruas, congestionamentos etc. O medo paralisou três cidades. Pânico ocorreu principalmente em localidades próximas a Nova Jersey, de onde a CBS emitia e Welles situou sua história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores de Newark e Nova York (além de Nova Jersey), invadidas pelos marcianos da história. “No bairro negro de Harlem, em Nova York, centenas de pessoas saíram às ruas gritando que Roosevelt (então presidente dos EUA) havia conclamado a população a que ‘fosse para o norte. Estão se aproximando as máquinas de Marte.’”33 “O pânico se espalhou entre os ouvintes, especialmente daqueles que casualmente rodavam o dial à procura de um programa interessante, e passaram a acreditar naquelas ‘notícias’ como verdadeiras. Foram estes espectadores casuais os que mais se envolveram, como mostrou o noticiário da época.”34 O conceito de rotatividade de audiência, que hoje faz com que as notícias sejam repetidas à exaustão, ainda não era cogitado. Na prática, estava presente. A recepção era coletiva, dando margem à existência de uma comunidade de ouvintes que, diversamente da recepção intimista e individualizada que caracteriza o rádio atual, facilitava - e até incentivava os comentários interpessoais, a troca de informações, experiências e emoções. Ainda hoje, a grande maioria dos acontecimentos importantes chegam primeiro pelo rádio, seja direta ou indiretamente: quem avisou, ficou sabendo pelo rádio. “A fixação por parte dos marcianos de suas máquinas destrutivas, a total interrupção das comunicações e a derrota de milhares de ‘defensores’ pegou o público ouvinte de surpresa. Durante um total de 40 minutos, centenas de milhares de ouvintes atônitos acreditaram que os marcianos haviam ocupado várias regiões do país, dizimado ao acaso centenas de pessoas e incendiado vilarejos 32
Garcia Camargo, Jimmy. La radio por dentro e por fuera. Quito, Ciespal, 1980, p. 19. Serva, Leão. “Os marcianos estão chegando”. In: Folha de São Paulo, 29.10.1985. 34 Ibidem. 33
inteiros com seus ‘raios de calor’. Os ouvintes da rede CBS reagiram como esperado: eles entraram em pânico.”35 A peça radiofônica é de autoria de Howard Koch com a colaboração de Paul Stewart, baseada na obra de H.G. Wells, e ficou conhecida como “rádio do pânico”.36 O roteiro foi reescrito pelo próprio Orson Welles que, além de diretor, foi também o produtor junto com a Mercury Players e, na dramatização fez o papel de professor da Universidade de Princeton que liderava a resistência à invasão marciana. “Orson Welles misturou elementos específicos da estética radioteatral (o ficcional, a dramatização) com os existentes nos noticiários da época (o verossímil, a realidade convertida em relato)”.37 Herbert George Wells foi um dos precursores da literatura de ficção científica. A Guerra dos Mundos, publicado em 1898, sob a influência das idéias do astrônomo Schiaparelli, era um de seus livros mais conhecidos, com o palco da ação da história ambientado em Londres, Inglaterra. Orson Welles apressou o ritmo da trama. No original, os episódios se desenvolvem ao longo de vários dias. Na adaptação, tudo acontece em 40 minutos, criando uma poética para o rádio: “Revelou a força de fixação e a credibilidade devotadas às notícias transmitidas por rádio, mostrou a capacidade de mexer com a psique do espectador quando se trabalha com o ritmo de sua respiração (descansos quebrados por notícias quentes, novamente substituídas por descansos)”.38 “Ao invés de entreter (como parecia anunciar no início do programa, ao apresentar música de orquestra), o programa travestiu-se de informativo (o que também não era). Brincou de jornalismo, jogou com a noção de tempo (a certa altura da peça, quando os ouvintes ainda acreditavam que o tempo da emissão decorria naturalmente, o narrador - o astrônomo Pierson - num longo monólogo começa a ler seu diário da invasão e menciona a passagem de vários dias, quando para o ouvinte tudo passara em pouco mais de uma hora (nesse momento, a farsa se revela); falou de congestionamentos de trânsito (que ademais aconteciam mesmo, provocados pelo programa); e abriu o programa lendo um boletim meteorológico.”39 Segundo Jacques Chambron, agente literário de H. G. Wells nos EUA, “a Columbia tinha obtido permissão de dramatizar uma irradiação mas 35
Barber, Bruce. “Rádio: o parente assustador da audioarte”. In: Zaremba, Lílian e Bentes, Ivana (orgs.). Rádio Nova, constelações da radiofonia contemporânea 2. Rio de Janeiro, UFRJ/ECO/Publique, 1997, p. 48. 36 Vide Koch, Howard. The panic broadcast. Boston, Little Brown, 1970. 37 Bosetti, Oscar E. Radiofonías - palabras y sonidos de largo alcance. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1994, p. 63. 38 Serva, Leão, op. cit. 39 Ibidem.
não fora explicado que a dramatização seria feita com uma liberdade que equivalia a uma remodelação da obra, tornando-a diferente”.40 Limites da tecnologia, a presença real: as guerras do rádio O radioteatro começa com sua abertura habitual, interrompido pelo anúncio da apresentação de um suplemento musical, bem ao estilo da época (inclusive se, por algum motivo um programa não pudesse ser apresentado, entrava o suplemento para cobrir a lacuna) e pela prestação de serviço, o boletim meteorológico. O assunto central de A Guerra dos Mundos foi sendo introduzido aos poucos. Interrompendo a música de tempos em tempos, são anunciadas as novidades, cada vez mais ameaçadoras. A pretensa transmissão jornalística vai ocupando cada vez maior espaço até que os flashes se tornam uma extraordinária que cancela o suplemento musical que, por sua vez, cancelava o radioteatro. Um locutor simula passar notícias, um repórter entrevista especialistas e autoridades, outro finge estar presente no palco da ação presenciando ao vivo os efeitos produzidos pelos marcianos invasores em uma das regiões mais povoadas dos Estados Unidos. O formato jornalístico foi o padrão utilizado por Welles para a introdução das informações, aproveitando a credibilidade que este desfrutava, baseado nos recursos reais disponíveis em 1938 e aos quais os ouvintes estavam acostumados, baseada em análise acurada da realidade econômica, social, tecnológica e do comportamento humano. O padrão dramático foi utilizado para o desencadeamento da obra radiofônica. O desenvolvimento tecnológico permitia as transmissões ao vivo 41 desde os anos 20. A introdução de reportagens externas merece destaque, uma vez que possibilitavam as transmissões dos acontecimentos jornalísticos ao vivo, diretamente do palco da ação. “No final de 1927, o rádio tem a satisfação de participar de um grande momento histórico: a transmissão da chegada de Charles Lindbergh à Washington, em seu próprio avião. A CBS e a NBC registraram o fato, realizando a primeira transmissão diretamente do palco da ação.”42 Outras inovações importantes seriam adotadas ainda nos anos 30. Entre elas, o telefone tornou-se um instrumento fundamental para o sucesso das coberturas radiojornalísticas. 40
Nota publicada sobre a transmissão de A Guerra dos Mundos na Folha de São Paulo de 01.11.1938. A respeito da trajetória do jornalismo no rádio, ver: Ortriwano, Gisela Swetlana. “Fragmentos da história do radiojornalismo”. In: Os (des)caminhos do radiojornalismo. São Paulo, ECA-USP, 1990 (tese doutoramento), pp. 34-96. 42 Garcia Camargo, Jimmy, op. cit., p. 16. Após realizar o primeiro vôo intercontinental, sem escalas, de New York a Paris, no Spirit of St. Louis, nos dias 20 e 21 de maio de 1927, Lindbergh era considerado um herói nacional para os norte-americanos. 41
“Os repórteres podem informar de qualquer local e seu relato coincide, em muitos casos, com a própria ocorrência do fato. Graças ao telefone, foram feitas coberturas jornalísticas que ficarão na história, como o seqüestro do filho de Charles Lindbergh; são produzidas importantes reportagens, como ‘Nós, o povo’ e informes e reportagens sobre a guerra espanhola, algumas transmitidas ao vivo do palco da ação.”43 Reportagens com a participação de vários repórteres, falando de diferentes locais, também eram realizadas. O rádio e seu jornalismo faziam parte do quotidiano dos ouvintes na década de 30. “Em 1938, a CBS norte-americana, em função da ‘Crise de Munique’, realizou o diálogo informativo com a participação de correspondentes de cinco cidades: Londres, Viena, Berlim, Paris e Roma.” 44 O radiojornalismo torna-se mais complexo e ganha maiores espaços. As transmissões passam a ter melhor qualidade sonora aos avanços tecnológicos e à própria necessidade de informar a população que se acostumara a receber as notícias em primeira mão. A credibilidade conquistada pelo rádio era indiscutível. Não se tratava mais de uma novidade fascinante, de um modismo, mas de uma necessidade. As emissoras passam a montar suas próprias estruturas de informação e a trabalhar com fontes especializadas, não dependendo mais dos veículos impressos e suas agências de notícias para poder informar. O rádio conquista espaços mas pouco sabe do papel que desempenha na vida dos ouvintes. A partir de meados dos anos 20, a concorrência com a imprensa já era bastante evidente e a rivalidade começa a ficar cada vez mais acentuada. Também os meios impressos percebem, logo, a potencialidade jornalística do rádio e tratam de engendrar medidas procurando preservar para si o direito de informar. Entre 1923 e 1940, o rádio, nos Estados Unidos, defrontou-se com dois problemas, resolvidos posteriormente a seu favor: um, relacionado com a transmissão de músicas (gravações versus apresentações ao vivo) e, outro, que nos interessa particularmente, com a possibilidade de emitir boletins noticiosos. A transmissão da invasão marciana de 1938 respeitou a marca deixada pelas duas guerras do rádio no formato dos programas. Com os avanços do rádio, os jornais impressos norte-americanos começaram a perder anunciantes, fato que se agravou com a inclusão de 43
Díaz Mancisidor, Alberto. La empresa de radio en USA. Pamplona, Universidad de Navarra, 1984, p. 18. 44 Ibid., p. 18. O autor refere-se à situação gerada pelo Acordo de Munique, assinado pela Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha, pelo qual foi decidida a partilha da então Checoslováquia, em setembro de 1938 (portanto, pouco mais de um mês antes da transmissão de A Guerra dos Mundos); em março, a Alemanha já havia anexado a Áustria. A Segunda Guerra Mundial era iminente e isso, seguramente, aumentou a eficácia da transmissão planejada por Orson Welles.
noticiários na programação. Assim, no início dos anos 30, as agências de notícias (principalmente a Associated Press, a United Press e a Internacional News Service) deixaram de fornecer seus serviços às emissoras radiofônicas. Em sua maioria, as agências noticiosas eram controladas por órgãos de imprensa e o rádio perdia uma fonte de notícias fundamental para o desempenho de suas funções. Em dezembro de 1933, foi fechado um acordo entre as emissoras e as empresas jornalísticas, baseado em três itens: os programas de notícias no rádio teriam cinco minutos de duração e duas edições diárias; as emissoras utilizariam a agência Press-Radio Bureau, constituída em 01.03.1934 especialmente para atender ao rádio; os programas de notícias não poderiam ser patrocinados.45 Desvantajoso para o rádio, esse acordo não foi cumprido totalmente. Algumas emissoras formaram suas próprias agências de notícias (como a Transradio Press Service e a Columbia News Service) e, a partir de 1935, a United Press e a International News Service (que, posteriormente, formaram a UPI - United Press International) passaram a fornecer material para o rádio. Apenas a Associated Press manteve-se contra até 1939. Em 1940, foi levantada a proibição dos programas informativos serem patrocinados publicitariamente. Os principais motivos que levaram ao término da disputa foram o fato de o rádio conquistar espaços (aumento do número de emissoras, de investimentos publicitários e de audiência) e de muitas empresas jornalísticas passarem a explorar, também, a radiodifusão de forma sistemática.46 A estética do formato jornalístico Os formatos radiojornalísticos conhecidos e bem sucedidos em 1938 foram utilizados com rigor. Estão presentes aqueles que mais atraiam o ouvinte norte-americano, reunindo as características próprias de qualquer mensagem radiofônica. Na peça há uma mescla de formatos entre o padrão dramático do radioteatro e o padrão dos serviços de informação jornalística construindo, assim, um novo modelo estético radiofônico. Welles misturou elementos específicos da estética radioteatral (a ficção, a dramatização) com os elementos presentes nos noticiários (o verossímil, a realidade convertida em relato). Na apresentação comemorativa do Dia das Bruxas de 1938, os acontecimentos se sucediam, num crescendo, desde os relativamente críveis 45
Detalhes sobre a questão das “duas guerras do rádio” podem ser obtidos em: Dill, Clarence C. “Radio and the Press: a Country View”. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science, nº 177, janeiro de 1935, p. 177. Também em: Smith, Robert R. “The origins of Radio Network News Comentary”. In: Journal of Broadcasting, nº 9, pp. 113-122. 46 Díaz Mancisidor, Alberto, op. cit., pp. 68-69.
até os totalmente inacreditáveis. As primeiras notícias foram mais ou menos verossímeis, apesar de não usuais, como o informe meteorológico anunciando “uma ligeira perturbação atmosférica de origem indeterminada” ou “várias explosões de gases incandescentes, produzidas a intervalos regulares, no planeta Marte”. Como se uma viagem interespacial dessa magnitude pudesse ser feita em minutos. Emocionalmente envolvido, o ouvinte não percebe, mesmo que tenha os conhecimentos para tal, as incoerências da narrativa. Nos dias atuais, em tempos em que há quantidade muito maior de informações disponíveis, facilidade para acesso a fontes diversificadas etc., ainda convivemos com as barrigadas da imprensa. A história do boimate em meados dos anos 80 merece citação. Alguns órgãos de imprensa brasileiros caíram em uma brincadeira de 1º de abril norte-americana e publicaram que foi conseguido o cruzamento de tomates com bovinos, apresentando inclusive depoimentos de renomados cientistas brasileiros sobre a façanha. Jornais e revistas (que são meios impressos, com documentação disponível em mãos de leitores), relutaram em admitir o logro mesmo depois da história ter sido desmascarada por outros órgãos de imprensa... Continuamos, no dia-a-dia do jornalismo, a utilizar uma linguagem inadequada e, muitas vezes, o jornalista não entende o assunto que está abordando, apenas passando adiante o que ouviu. Há molduras e pedestais que isolam o jornalismo e precisam ser derrubados para que a informação se integre com os demais gêneros de programas em que esteja presente, de acordo com a linha da emissora e o público - segmentação - ao qual é destinada, sem confundir realidade com ficção. Os especialistas ouvidos no enredo de Welles são mediadores que, com riqueza de informações, explicam o acontecimento. O astrônomo é um tipo de cientista que tem especial importância no relato, aparecendo sob diferentes personagens que confirmam os dados e avaliam a situação durante o transcorrer da ação. Outros especialistas são chamados para sustentar a tensão argumentativa da transmissão e entram quando a narrativa exige a presença de uma ação social organizada, aparecendo então as autoridades constituídas: comandante de polícia, vice-presidente da Cruz Vermelha, Capitão da Marinha, Secretário do Interior dos EUA etc. “O horror do ouvinte é compartilhado pelo testemunho ocular. Quando o próprio cientista se sente perplexo, o leigo reconhece a inteligência extraordinária das estranhas criaturas. Não é possível dar uma explicação sobre o acontecimento. A resignação e a desesperança do Secretário do Interior, ao aconselhar que ‘depositemos nossa fé em Deus’, não indicam uma direção efetiva frente aos acontecimentos.”47 47
Cantril, Hadley. “La invasión desde Marte”. In: Revista Occidente, Madrid, Espanha, 1942. Citado por: Bosetti, Oscar E., op. cit., p. 64.
A narrativa utiliza terminologia científica, ouvindo vários cientistas que reforçam as idéias expostas, confirmando o inusitado e surpreendente do evento. Narrado por locutor de estúdio e repórteres, vai em crescendo emocional conforme os acontecimentos se desenrolam, reforçado por ambientações sonoras e descrição de locais e objetos que levam o ouvinte a criar imagens mentais. A racionalidade científica é aliada à pretensa imparcialidade do jornalista e à atuação organizativa das autoridades. Em contraposição está a emocionalidade das testemunhas populares. Até que o quadro geral da situação se torne claro, a emocionalidade e descontrole vão tomando conta de todos os envolvidos. Talvez o clímax desse crescendo esteja no momento em que o cientista admite não saber o que acontece... há fatos que a ciência não explica. “Todos estes atores da trama radiofônica entram em cena a partir de um dos recursos utilizados pelos noticiários: a entrevista jornalística. Ou seja, o diálogo entre os locutores que comandavam o programa do estúdio e os entrevistados que, fundamentados nos conhecimentos de suas especialidades, emitiam opiniões sobre a avassaladora invasão marciana à Terra.”48 O timing é correto, tanto das informações jornalísticas como da ambientação sonora. Na época, o rádio era realizado sem muitos dos recursos técnicos atualmente disponíveis. Ao vivo, sem gravação prévia, os efeitos produzidos no momento, no próprio estúdio, a partir dos mais variados materiais, exigiam planos de som muito bem planejados e executados. Os sustos são não apenas informativos: os efeitos sonoros cumprem papel fundamental. “O resultado é uma série de intervenções que aguçam a audição, e que vão de simples aplausos, gritos e sirenes de carros de polícia, a silêncios e murmúrios da multidão, soluções intuitivas para alcançar uma variedade de espaços radiofônicos, determinados por uma conjunção de distâncias do microfone, sobreposição de vozes e silêncios.”49 A cobertura em si, jornalisticamente correta quanto aos procedimentos, é um fenômeno de abrangência geográfica, possível com a tecnologia disponível na época nos EUA, onde as redes de rádio estiveram presentes desde o início,50 assim como eram comuns as unidades móveis e o uso do telefone nas transmissões jornalísticas. 48
Bosetti, Oscar E., op. cit., p. 63. Zaremba, Lilian. “Orson Welles: o labirinto auditivo de Guerra dos Mundos”. In: Rádio Nova, constelações da radiofonia contemporânea, op. cit., p. 90 (grifo da autora). 50 As transmissões em rede já eram usuais, com a participação efetiva de diversas emissoras no que diz respeito à produção dos programas emitidos. Na cadeia radiofônica, ao contrário, as emissoras componentes apenas retransmitem o que é produzido pela emissora líder, sem interferir com o conteúdo do programa. 49
No final do programa, o narrador, Dr. Pierson, constatava a morte dos marcianos, vítimas de microorganismos terráqueos, contra os quais não tinham defesa. Os terríveis marcianos foram vencidos pelo seu próprio corpo. Mas essa notícia, na peça, só foi dada quando os ouvintes já tinham vivenciado o pânico. Esses modelos são utilizados ainda hoje, por exemplo, em programas policiais, que já fizeram muito sucesso no rádio e hoje estão à granel na televisão. De maneira geral, em coberturas jornalísticas de eventos que envolvem comoção pública, o padrão continua presente e é explorado à exaustão por muitas emissoras que têm no sensacionalismo seu principal trunfo. A questão ética parece ficar esquecida. Basta pensar em casos como a cobertura da doença e morte de Tancredo Neves (21.04.1985), a morte do piloto Ayrton Senna (01.05.1994) ou dos componentes do conjunto musical Mamonas Assassinas (03.05.1996), entre tantos outros. Lembrar das coberturas esportivas que os spikers brasileiros faziam desde os primeiros tempos do rádio também é ilustrativa: se a condição técnica ou econômica não permitia, criava-se uma transmissão virtual, simulando a presença do narrador no palco da ação. Ou então, um evento virtual, como os jogos inventados para o 1º de abril, em que resultados inverossímeis eram criados visando a deixar os torcedores inconsoláveis. Desmentidos, às vezes, dias depois... Que o diga Nicolau Tuma, o Spiker Metralhadora!51 O modelo parece ser tão promissor, motivando e cativando o ouvinte, que é utilizado com muita freqüência pelos programas políticos que, sob o formato jornalístico, com repórteres, comentaristas e locutores (que podem ser verdadeiros ou representados por atores), apresentam suas idéias e programas partidários, ouvindo especialistas e trazendo o palco da ação. E atenção!!! Em edição extraordinária... Quanto à forma de difusão das informações a invasão começa com o flash e termina como uma edição extraordinária, em que as mensagens são estruturadas rigorosamente em função da oportunidade, conteúdo e tempo empregado na emissão. Resumidamente, a categoria flash pressupõe um acontecimento importante que deve ser divulgado imediatamente, em função de sua oportunidade mesmo que não se conheça todos os dados do fato. A edição extraordinária também se refere a acontecimentos importantes, cuja divulgação é oportuna, interrompendo qualquer programa. Mas, nesse caso, a notícia já é apresentada com pormenores, sendo mais longa. De acordo com a importância do fato, a emissora pode interromper 51
Nicolau Tuma, que tem muitas histórias para contar, é considerado o primeiro locutor esportivo do rádio brasileiro, tendo narrado partidas de futebol, corridas automobilísticas e lutas de boxe, entre outros esportes, há quase 70 anos...
toda a sua programação e ficar informando sobre o acontecimento enquanto houver novidades a apresentar. Tanto o flash quanto a extraordinária podem ser emitidos do estúdio ou diretamente do palco da ação, ou seja, o local do acontecimento que deu origem à notícia. O texto pode ser previamente redigido ou emitido de improviso. Em qualquer dos casos, os fatos divulgados podem referir-se a eventos inesperados ou já previstos, mas que devem ser transmitidos no momento de sua ocorrência. A linguagem utilizada é determinativa, aproximando-se das manchetes. Se a transmissão da edição extraordinária é muito longa, a linguagem tende a perder o caráter determinativo, assumindo o aspecto de uma narração do que está acontecendo no momento. 52 Esses dois tipos de difusão da informação são mais utilizados por emissoras que têm sua preocupação voltada para o jornalismo de natureza substantiva que envolve a transmissão direta do local do acontecimento. Nem sempre a transmissão, mesmo nesses casos, é direta, ao vivo; sendo emitida do estúdio, é adjetiva.53 No caso, foram utilizadas tanto emissões de estúdio como ao vivo, diretamente do palco da ação, somando a credibilidade do locutor com a dos repórteres/entrevistadores e especialistas/autoridades, enriquecidos pelo som ambiente e a emocionalidade do testemunho ocular do fato. A invasão marciana no espaço da imaginação O público sabia, nos Estados Unidos de 1938, que o rádio tem características muito adequadas à transmissão jornalística. 54 Algumas delas merecem ser destacadas em função de sua relevância para a discussão da questão do jornalismo radiofônico, formato adotado na adaptação de A Guerra dos Mundos. O rádio fala e, para receber a mensagem, é apenas necessário ouvir. A linguagem oral pressupõe a presença das virtudes da linguagem coloquial como clareza, objetividade, simplicidade etc. E, apesar de ainda não funcionar efetivamente com dupla mão-de-direção, o rádio nasceu como um meio de comunicação interativo que se viu limitado em sua capacidade bidirecional à medida em que se constituía o sistema econômico de sua exploração. A dupla mão-de-direção permite, por outro lado, o diálogo real entre emissor e receptor. Como norma geral, é preciso criar condições para que se estabeleça um diálogo mental, levando o ouvinte a se tornar 52
Sobre as categorias de transmissões informativas ver Ortriwano, Gisela Swetlana, A informação no rádio, São Paulo, Summus, 1985, pp. 91-94. 53 A respeito dos conceitos de jornalismo de natureza substantiva e adjetiva - ver Sampaio, Walter, Jornalismo audiovisual, Petrópolis, Vozes, 1971, p. 72. O autor apresenta os conceitos para o jornalismo televisionado, mas eles podem facilmente adaptar-se ao jornalismo radiofônico uma vez que envolvem a presença - ou não - do palco da ação. 54 As características gerais do rádio foram por nós tratadas com detalhes em A informação no rádio, op. cit., pp. 78-81.
participante, a raciocinar junto, a ter condições para compreender e reagir à mensagem que está recebendo, participando interativamente na elaboração da mensagem. Nos anos 30, o rádio ainda não tinha mobilidade quanto ao receptor (não havia transistor), mas do ponto de vista do emissor, o fato já era conhecido. Com o desenvolvimento tecnológico ficava cada vez mais fácil transmitir de qualquer lugar, podendo acompanhar os acontecimentos diretamente do palco da ação. A mobilidade - tanto do emissor como do receptor - permitiu que fosse explorada plenamente a característica do imediatismo, de suma importância em se tratando da questão do jornalismo. Os fatos podem ser transmitidos no mesmo momento em que ocorrem, possibilitando ao rádio estar à frente da televisão (cujo aparato tecnológico é mais complexo) e do jornalismo impresso. Um aparelho telefônico (celular, telefone público) possibilita levar ao ar uma mensagem que está sendo elaborada no mesmo momento em que é transmitida. Se, no início, as unidades móveis de transmissão permitiam que as emissoras praticamente se deslocassem para o palco da ação do acontecimento jornalístico, com a tecnologia atualmente disponível o rádio ganhou ainda mais agilidade e baixo custo de produção. A notícia no rádio pode chegar ao ouvinte antes mesmo de ter sua forma final, ainda quase um boato, sendo novidade até para o jornalista que a transmite. A mensagem precisa ser recebida - e compreendida - no momento exato em que está sendo emitida/transmitida. Não é possível ouvir de novo ou deixar para ouvir mais tarde, como acontece com os meios impressos (lemos e relemos o jornal quando, como e onde nos for mais conveniente e aprazível). A característica da instantaneidade é muitas vezes confundida com a do imediatismo, inclusive em algumas de nossas poucas obras sobre o rádio e o radiojornalismo. Instantaneidade e imediatismo são características distintas, não se confundem. O imediatismo diz respeito à questão da defasagem temporal entre o acontecimento e sua divulgação. A instantaneidade está intimamente ligada às condições de recepção por parte do ouvinte, simultânea à transmissão, mas não necessariamente à ocorrência (como no caso do imediatismo). O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por intermédio da criação de um diálogo mental com o emissor: é a sensorialidade que se faz presente. O ouvinte visualiza o fato narrado através dos estímulos sonoros que recebe, da entonação vocal, da tonalidade, do ritmo da mensagem. A imaginação é despertada pela emocionalidade das palavras e dos recursos de sonoplastia, permitindo que o receptor dê asas às suas expectativas individuais, à sua imaginação. A sensorialidade é uma característica que pode trazer resultados benéficos para uma série de tipos de programas (humor, dramatizações etc.).
Mas na transmissão jornalística é necessário vigiá-la: qualquer deslize pode levar a reações indesejáveis como pânico, revolta etc. É conveniente conter a imaginação do receptor limitando-a aos fatos, elaborando a mensagem jornalística sob seu aspecto mais racional, evitando a linguagem e a interpretação apelativas que levam, fatalmente, ao sensacionalismo. Se aliamos a esse quadro a sonoplastia adequada, recriando o pano de fundo das transmissões jornalísticas, as imagens mentais serão criadas e o diálogo mental estabelecido, ocorrendo a comunicação. Cada vez mais, o rádio é visto como um amigo, ou o substituto de um amigo ausente. Por intermédio do diálogo mental, os apresentadores, locutores, repórteres, cantores etc. tornam-se íntimos do ouvinte. É a característica do intimismo: o rádio fala com muita gente ao mesmo tempo, como se falasse com cada um em particular. A recepção é hoje individualizada e o walkman o receptor preferido. No entanto, a audiência coletiva não pode ser esquecida: nos anos 30, o rádio ainda não tinha as características do intimismo e da recepção individualizada, somente possíveis graças ao transistor e à miniaturização. Era ouvido pelas famílias ou grupos de pessoas reunidos em torno de um único receptor, permitindo que um aumentasse a angústia e a ansiedade do outro, situação que colaborava na geração do pânico, reforçando a ação: os que não estavam ouvindo a transmissão iam sendo informados pelos outros, provocando reação em cadeia. A credibilidade foi reforçada pela reconstrução da ambientação sonora, pela recriação dos sons que a imaginação popular acreditava serem próprias de naves espaciais e de ambientes externos e a credibilidade das vozes dos personagens foi dada a partir de estereótipos firmados na cultura americana da época. O rádio existe em um espaço imaginário, criando imagens mentais e estabelecendo o contato pelo diálogo mental. “Uma imagem vale por mil palavras”. Para criar uma imagem mental adequada ao jornalismo, vai ser realmente necessário utilizar as mil palavras para que seja a imagem certa, aquela que corresponda ao fato. Para Walter Sampaio, existe uma estrutura redacional que contém as informações e uma torrente verbal encarregada de garantir que as informações cheguem ao ouvinte do modo mais correto possível.55 No que diz respeito a esse aspecto, podemos fazer uma comparação com os conceitos de território e mapa, emitidos por Hayakawa. Território representa “o mundo de primeira mão”, os acontecimentos que estão diretamente diante de nossos sentidos e, mapa, os acontecimentos que recebemos verbalmente, “relatos” feitos por pessoas que presenciaram o fato e que, muitas vezes, são apenas “relatos de relatos de relatos, que afinal vão 55
Sampaio, Walter, op. cit. Os conceitos são apresentados na comparação entre a linguagem radiofônica e a televisionada.
ter aos relatos de primeira mão, feitos por pessoas que foram testemunhas oculares do acontecimento”. Junto a esses “relatos”, recebemos também as “inferências” feitas sobre os “relatos”, ou até “inferências feitas sobre outras inferências”, fazendo com que o material original - o fato - muitas vezes chegue deturpado - seja voluntariamente ou não.56 Outras peculiaridades do meio radiofônico devem ser levadas em consideração. Algumas, decorrentes das próprias características básicas, como, por exemplo, a capacidade de persuasão, de formação de opinião, de chegar diretamente aos domicílios atingindo a todos que estejam sintonizados etc. Mas nem sempre as características do rádio são positivas quanto à comunicação pretendida. Entre as ocorrências negativas, podemos citar a ausência de percepção visual, que pode levar à deturpação da imagem real, o condicionamento da instantaneidade na decodificação da mensagem, a possível fadiga, a distração, eventual dependência (do meio, do programa, do apresentador), a fugacidade da mensagem etc. O rádio tem necessidade de referências anteriores para que as imagens mentais correspondam ao fato uma vez que não se pode criar imagens reais do que é desconhecido. De narração em narração, ou como diz Hayakawa, de “relato em relato”, as imagens mentais vão sendo criadas de acordo com as informações anteriores disponíveis por cada indivíduo e sua formação cultural como um todo, com tendência maior ou menor para a crendice, a credulidade ou a comprovação científica. Mesmo neste final de século - ou até por isso, segundo alguns -, são comuns as ondas de fenômenos (hoje em dia, pela velocidade das informações, cada vez mais globalizadas) como o chupacabras, as loiras-vampiras, ou até a crença de que seja possível que as pessoas, mesmo depois de mortas, embarquem com suas bagagens materiais na cauda do cometa que as levará à nave espacial e a outros mundos e vidas melhores... com variantes, presença eterna entre os humanos na busca da terra sem males. Welles aproveitou a atualidade e oportunidade do momento vivido nos EUA. A transmissão constituiu um alerta para o próprio rádio. Ficou demonstrado que sua influência era tão forte e determinante que poderia causar reações imprevisíveis na audiência. As características do meio, aliadas a determinadas condições do momento histórico como, por exemplo, o anseio em sair totalmente da Grande Depressão, as tensões na Europa deixando cada vez mais próxima a possibilidade de um novo conflito mundial (situações que geravam insegurança), a credibilidade no jornalismo e na ciência, a divulgação de obras de ficção científica aventando a hipótese de haver vida inteligente em outros planetas e possíveis viagens interplanetárias etc., levaram a uma reação que fugiu a qualquer previsão: 56
Hayakawa, S. I. A linguagem no pensamento e na ação. 2ª ed., São Paulo, Pioneira, 1972, pp. 21-23.
estavam reunidos naquela radiofonização os ingredientes certos para provocar o pânico. A experiência indicou que era necessário realizar estudos sistematizados de audiência/recepção e do poder do rádio na formação da opinião pública. Mostrou, sobretudo, a necessidade de pesquisas sobre o assunto. Começando a estudar especificamente o rádio, veio à tona a problemática muito mais complexa das audiências e de suas possibilidades de manipulação. A experiência permitiu que várias das características do rádio, da audiência e da estrutura da mensagem radiofônica, pudessem ser analisadas e posteriormente utilizadas - ou evitadas - conscientemente. Deixou patente, acima de tudo, a questão da responsabilidade do comunicador com relação à mensagem que emite e suas conseqüências, entre elas, o sensacionalismo. Noites virtuais: antes e depois... BBC e Rádio USP Os resultados de A Guerra dos Mundos são mundialmente famosos e dividiram a estética radiofônica em antes e depois dessa transmissão. Mas outras irradiações do tipo, menos abrangentes e espetaculares - ou menos famosas por não terem conseguido reunir tantos elementos desencadeadores da reação dos ouvintes - , têm sido realizadas - ou tentadas -, em diversas ocasiões desde as primeiras experiências de transmissão radiofônica. Um dos antecedentes conhecidos e consideráveis teve características semelhantes com a produção de Welles e ocorreu na Grã-Bretanha. Em 16 de janeiro de 1926, na BBC - British Broadcasting Corporation - o sacerdote católico Ronald Knok descreveu a revolta de uma suposta multidão de desempregados que, depois de atravessar a cidade de Londres, tomava de assalto o Parlamento e executava um ministro do gabinete do governo. Esta narrativa de Knok, um conhecido escritor de novelas policiais, provocou grande tumulto em uma comunidade que passava por período de penúria econômica que levou a uma greve geral durante o mês de maio do mesmo ano.57 Entre os casos mais recentes, citamos o que ocorreu na Rádio USP, de São Paulo. Numa imitação e homenagem a Orson Welles, o produtor independente Geraldo Anhaia Mello, no terceiro programa Verdades e Mentiras,58 transmitido pela Rádio USP/FM, das 20h00 às 21h00 do dia 04 de dezembro de 1985, noticia a mentira do deslizamento de uma parte da Serra do Mar, na Cosipa, em Cubatão, provocando vazamento de gases perigosos, advertindo ainda que todos deveriam fugir da região. “O fato só não causa pânico devido à pequena audiência da emissora.”59 57
Citado por Bosetti, Oscar E., op. cit., p. 55. Verdades e Mentiras é o nome de um filme de Orson Welles, de 1973, que conta a história de um falsificador de quadros que, usando a ambigüidade, discute os conceitos do que seja verdade e mentira. 58
“Não fiquem em suas casas, abandonem a cidade, fujam do gás venenoso, peguem carros, barcos, navios, o que puderem”. Essa advertência foi feita à população da Baixada Santista, “em voz grave, sobre os acordes angustiantes da música ‘Mr. Gones’, do grupo americano ‘Weather Report’, após o mesmo locutor ter anunciado um desmoramento na serra do Mar. Ele informou que as instalações da Cosipa e os depósitos da Union Carbide, em Cubatão, haviam sido soterradas, anteontem à noite”.60 As conseqüências não foram tão graves ou marcantes como as de 1938 uma vez que as variáveis em jogo não tinham a mesma força de meio século atrás: a diversidade de fontes de informação é muito maior e a Rádio USP tem pequena audiência e não atinge com facilidade a Baixada Santista. “A notícia, repetida com insistência ao longo de 22 minutos do programa, acrescentava que os danos causados às instalações industriais haviam provocado vazamento em depósitos de isocianato de metila, um gás mortal, e aconselhava a população de Cubatão e da Baixada a abandonar suas casas, para evitar a repetição das tragédias de Vila Socó e da cidade de Bhopal, na Índia, em que milhares de pessoas morreram envenenadas pelo gás.”61 Existindo clima propício, o rádio do pânico tem terreno fértil para prosperar sob o formato jornalístico. A proliferação de boatos continua a existir mesmo com muitas fontes de informação à disposição. Houve transtornos diversos, tanto para ouvintes quanto para a direção da emissora. O desmentido só foi feito 30 minutos após iniciada a transmissão. Inúmeras pessoas ligaram para a polícia, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, os meios de comunicação se mobilizaram para checar a informação e a Rádio USP foi ameaçada de ter seu funcionamento suspenso. Também neste caso, uma série de elementos circunstanciais eram favoráveis. Para começar, era noite e chovia. A Serra do Mar, segundo os especialistas, está realmente ameaçada de deslizamentos devido à poluição causada pelas indústrias petroquímicas sediadas em Cubatão e pelos constantes desmatamentos das encostas, fato que estava sendo bastante divulgado em 1985. Na região envolvida, a Vila Parisi, os problemas de poluição eram muito graves, sendo inclusive conhecida como Vale da Morte. Além disso, pouco tempo antes, havia ocorrido a tragédia de Vila Socó, também na região, quando o vazamento de um gasoduto provocou explosões seguidas por incêndios que destruíram todos os barracos da vila, deixando quase uma centena de mortos. Como pano de fundo, existia a 59
In: Cronologia das Artes em São Paulo: 1975-1995. Comunicação de massa - rádio e televisão. Vol. 5. São Paulo, Centro Cultural de São Paulo, Divisão de Pesquisas, Equipe Técnica de Pesquisa de Comunicação de Massa, 1996, p. 90. 60 “Rádio USP pode sair do ar por causa da farsa sobre Cubatão”. In: Folha da Tarde, 06.12.1985. 61 “Dentel pode punir rádio que deu notícia falsa de tragédia em S. Paulo”. In: Jornal do Brasil, 06.12.1985.
própria instabilidade político-econômica do país que iniciava sua fase de transição democrática. “Na verdade, a tensão na cidade foi muito grande. Por volta das oito e meia da noite já havia pânico entre os órgãos ligados à emergência e à defesa civil em Cubatão. Eram centenas de telefonemas de São Paulo, de Santos, de Cubatão.”62 A Rádio USP tem pequena audiência em Cubatão. Causou tumultos nos órgãos de defesa e segurança que tiveram também dificuldade em checar a veracidade do fato e garantir que ele não existiu. Houve autoridades que deram graças a Deus pelo fato de o programa ter ido ao ar no horário da novela Roque Santeiro, da Rede Globo, que com seu ibope elevado evitou que o problema pudesse ter sido mais grave. Em 1938 houve movimentos de censura nos EUA contra o rádio após o episódio da invasão marciana, mas não existia uma legislação prevendo o caso. Houve pressões, mas gradualmente a opinião pública foi conquistada, comandada por jornalistas influentes que passaram a mostrar que o episódio deveria servir de exemplo, alertando para o fato de que a dramatização fez um favor ao povo, chamando a atenção para os problemas que um grande pânico poderia causar se ocorresse um real ataque inimigo ao país. “De acordo com um dos muitos estudos realizados após o caso, foram essas pessoas que, em seguida, procuraram influenciar os legisladores para que proibissem ‘tal fantasmagoria’ nas ondas do rádio. Não é provável que um programa semelhante pudesse detonar a mesma reação hoje em dia.”63 A Rádio USP também sofreu pressões, principalmente por tratar-se de uma Rádio Universitária da qual são cobrados compromissos éticos e morais que não são exigidos de emissoras comerciais, por exemplo. As pressões punitivas aconteceram sob a forma de ameaças de cassação do prefixo, advertência, suspensão, multa, prisão para o produtor etc. De concreto, uma das primeiras medidas foi a retirada do ar de todos os programas ao vivo, que passaram a ser previamente gravados. E, além da retirada do ar de Verdades e Mentiras, todo o projeto de participação de produtores independentes com novas idéias sobre o fazer rádio acabou comprometido e desarticulado a médio prazo. E, sem dúvidas, além de relembrar a todos as responsabilidades, reforçou a autocensura na criação e realização de programas... Ok terráqueos! O rádio venceu: recompondo fragmentos Os formatos jornalísticos básicos de A Guerra dos Mundos continuam sendo empregados. Em seus primeiros anos, o poder do rádio foi 62 63
“Dentel processa a rádio que disse que serra caía”. In: O Globo, 06.12.1985. Barber, Bruce, op. cit., p. 49.
temido devido, principalmente, ao desconhecimento de suas potencialidades e conseqüências. Hoje, a situação não é muito diferente: mais que o poder do rádio, o poder da comunicação continua temido, agora pela convergência das mídias, via informática. É a vez da Internet ocupar o lugar central no palco das discussões. Alguns estudiosos temem que programas de tecnologia da informação pública e de comunicações possam ser realizados às cegas por governos que não se incomodem com as conseqüências sociais, que podem ser potencialmente devastadoras. Joe Chester, do Instituto de Tecnologia da Irlanda diz que sempre houve, através da história, suposição de benefícios implícitos advindos de novas tecnologias. Mas muitas vezes os impactos negativos demoraram para ser reconhecidos e suas conseqüências sociais freqüentemente suplantam qualquer benefício. O mesmo pode ser dito com razão de muitas tecnologias novas, como a realidade virtual, a Internet e os softwares inteligentes.64 O rádio vive um momento de grande vitalidade criativa. A informática tem se mostrado um importante aliado. Por meio do Real Audio pode ser ouvido em qualquer lugar, satisfazendo a característica da proximidade psicológica mesmo que a distância física entre o emissor e o ouvinte seja muito grande: o amigo está lá, para muitos diálogos mentais, em seu papel de background, pano de fundo de qualquer atividade que esteja sendo desempenhada, sem requerer atenção exclusiva. Mas o acesso às novas formas de comunicação e a participação interativa exigem competência tecnológica e poder aquisitivo. Bertolt Brecht (1898-1956), poeta e dramaturgo alemão, em textos escritos na virada das décadas 20/30 denominados Teoria do Rádio,65 imagina-o com dupla mão-de-direção, alertando que a interatividade é um anseio antigo do ouvinte. A questão é tratada muito mais sob a ótica da política, da organização democrática da sociedade e do relacionamento entre cidadãos, do que sobre a exclusividade de uma ou outra tecnologia de informação. Nesses textos, Brecht contraria uma visão desenvolvimentista e lembra que o rádio, antes de ser um meio de massas era um meio interativo de comunicação, que se viu limitado em sua capacidade bidirecional à medida em que se constituía o sistema econômico de sua exploração. E poderia ser um excelente meio de entretenimento, dando suporte a diferentes manifestações culturais. Com a informática, o rádio ganha novas perspectivas quanto ao seu potencial interativo. Hoje, já não são poucas as emissoras que incentivam a participação do ouvinte por e-mail, assim como por fax. O correio tradicional perdeu seu lugar uma vez que não acompanha a agilidade do 64
In: Jellinek, Dan. “Especialista adverte para perigos de programas de comunicações”. O Estado de S. Paulo, 04.04.1998, p. D6. 65 Brecht, Bertolt. “Teoria do Rádio”. In: Bassets, Lluís (edit.). De las ondas rojas a las radios libres. Barcelona, Gustavo Gili, 1981, pp. 48-61.
rádio. Tomando a liberdade de ampliar a conceituação apresentada por Walter Sampaio para a natureza do jornalismo, a interatividade solicitada pelas emissoras é adjetiva .66 Via de regra, não é permitida a participação de viva voz, no que poderíamos chamar interatividade substantiva. O uso do telefone, convencional ou celular, apesar de recurso importante para o rádio, oferece pouco espaço para o ouvinte uma vez que implica menor controle sobre o discurso, mesmo que problemas técnicos possam facilmente derrubar uma ligação telefônica indesejada... Talvez Orson Welles tenha intuído, duas décadas antes, idéias desenvolvidas pelo canadense Marshall McLuhan (1912-1981), teórico dos meios de comunicação de massas e inventor da expressão aldeia global. Segundo McLuhan, durante pouco tempo o rádio foi um meio de entretenimento. Sua essência, é a de meio informativo, revelada mais claramente após o surgimento da televisão. Notícias, hora certa, informações sobre o trânsito, sobre o tempo, enfatizam o poder do rádio. Hoje, a informação jornalística no rádio ocupa espaços cada vez maiores e as emissoras all news e talk radio fazem parte do quotidiano. Pecam, contudo, por esquecer a linguagem do rádio: além da informação, a correta ambientação sonora é fundamental. Do ponto de vista da moderna tecnologia, em A Guerra dos Mundos “um mundo virtual foi descrito e apoiado por um mecanismo que, na experiência dos ouvintes, era usado apenas para acontecimentos reais. A incapacidade de distinguir imediata e claramente o real do virtual foi a verdadeira causa do pânico”.67 Se algumas idéias fundamentadas em princípios científicos, tão fantásticas que mais parecem ficção, forem verdadeiras, talvez possa vir o dia em que a tecnologia permita recompor os sons dispersos e, quem sabe, por meio de um software, recompor os fragmentos das falas desfeitas no espaço e no tempo. Lá estará a voz de Orson Welles, na noite do Dias das Bruxas de 1938... “... Fizemos o que deveria ser feito. Aniquilamos o mundo diante de seus ouvidos e destruímos a CBS. Mas vocês ficarão aliviados ao saber que tudo não passou de um entretenimento de fim-de-semana. Tanto o mundo como a CBS continuam funcionando bem. Adeus e lembrem-se, pelo menos até amanhã, da terrível lição que aprenderam hoje à noite: aquele ser inquieto, sorridente e luminoso, que invadiu sua sala de estar é um representante do mundo das abóboras 66
Vide nota 23. A noção de jornalismo de natureza substantiva e/ou adjetiva foi aqui utilizada para a questão da interatividade, de acordo com o maior ou menor controle da participação física do receptor. No caso, não estamos considerando a interatividade envolvida na criação do diálogo mental entre emissor e receptor. 67 In: Jellinek, Dan, op. cit.
e, se a campainha de sua porta tocar e ninguém estiver lá, não era um marciano... é Halloween!”
13. O rádio-catástrofe: Welles e os antecessores A dramatização dos desastres, que até hoje faz sucesso, já havia sido experimentada no rádio de outros países antes de A Guerra dos Mundos. Welles levou a sua experiência do rádio para o cinema, o que resultou em obras primas pouco compreendidas na época, como Cidadão Kane.
por Luiz Maranhão Filho Radialista, doutorando em Comunicação e Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Publicou Memória do Rádio (Editorial Jangada, 1991).
“A idéia de fazer teatro pelo rádio nasceu e se tornou realidade nos primórdios da radiodifusão na Europa e Norte-América, com as primeiras transmissões de peças teatrais, feitas diretamente dos palcos das casas de espetáculos das grandes cidades onde já havia estações de broadcasting. Bem cedo, porém, tornaram-se patentes os inúmeros erros e deficiências de tal gênero de audições”. A colocação foi feita em 1948, pelo radialista pernambucano Luiz Maranhão, durante palestra na Casa do Estudante, atendendo a convite de um grupo teatral de universitários, dirigido pelo escritor Hermilo Borba Filho. O texto foi editado na revista “Contraponto”, número de março do mesmo ano, mensário dirigido pelo teatrólogo Waldemar de Oliveira. Na ocasião, analisando a visão universal de Rádio, o palestrante citou outro mestre da época: “O grande renovador do teatro italiano ANTON BRAGAGLIA julga que não devemos dizer espetáculo quando nos referimos ao teatro pelo microfone e sim empregar o vocábulo auditóculo, desde que não há espectadores e sim ouvintes”. Ao abordar a primeira investida de Welles no rádio em 1938, Luiz Maranhão tinha esta visão crítica, dez anos depois: “Fizeram apenas espetáculos, perdão Bragaglia, auditóculos que chamarei de Franksteinianos ou draculianos, pois não tendo conseguido fixar novas fórmulas para o gênero, conseguiram somente pregar sustos aos rádio-escutas neurastênicos, às mocinhas histéricas e aos meninos medrosos. Foram peças sem conteúdo artístico, que não suportavam uma segunda audição, pois viveram apenas pelo imprevisto, ou melhor, pelo susto infligido aos rádio-escutas. Refiro-me aos espetáculos radiofônicos, tipo MAREMOTUM, INVASÃO DA TERRA PELOS MARCIANOS, etc.”. É interessante retroagir nesta visão crítica expressa no Brasil de então e perceber o embasamento da rejeição. Luiz Maranhão afirmou no seu texto que “qualquer obra de arte pode ser apreciada sempre. Uma peça de teatro ou uma fita de cinema podem ser vistas inúmeras vezes, sem que percam com isto todo o sabor, todo o encanto”. Com o nível de informação chegado até ao nosso país, exclusivamente pelos registros do periodismo, os radialistas da terra sabiam, pelo menos, o mínimo do que se fazia lá fora. “Apareceram nessa época alguns trabalhos notáveis, ao lado de ótimas adaptações de grandes peças já representadas nos palcos. De modo que o advento daqueles rádio-autores que procuraram pregar susto aos ouvintes, pode ser considerada uma intromissão passageira e sem grandes conseqüências”, consigna ainda o texto publicado em “Contraponto”. A introdução conflitante com a visão hodierna é necessária, porque as referências são plurais, o que demonstra que o experimentalismo de Welles não ficou em um ato isolado, posto que teve antecessores e críticos. É possível concluir que houve sucessores, arriscando-se na mesma vertente.
Luiz Maranhão não está sozinho. “É preciso convir, como muito bem observa Isidoro Odena, que o ouvido humano é capaz de captar e registrar os elementos simples de seu mundo sonoro habitual, mas não as complicadas locubrações do laboratório do sonoplasta”. Isidoro Odena fez rádio-teatro na Argentina, no ciclo dos anos 30 a 40 e é dele a afirmativa: “O Teatro pelo microfone penetra por um sentido eminentemente intelectual, como é o ouvido, conformado para recolher o som articulado em palavras, representações conceituais por excelência”. As análises dos anos 40 sofreram, de fato, mutações, na medida em que novas informações, filtradas por livros, revistas ou jornais, tornaram-se acessíveis aos especialistas da terra. Tanto é assim que, no Rio de Janeiro, em ambiente que refletia muito mais uma visão do mundo, o jornalista NESTOR DE HOLANDA, em uma edição da popular revista da época CENA MUDA, cuja data foi difícil precisar, mas gira em torno nos primeiros anos 40, consulta e recebe de Luiz Maranhão, por carta, o seguinte esclarecimento em torno do confronto entre o rádio feito no país e o rádio de Welles: “Nestor. Embora não estejamos ainda em condições de apresentar peças radiofônicas como aquela impressionante INVASÃO DA TERRA PELOS MARCIANOS, o formidável cartaz de Orson Welles ou peças como aquela formidável MAREMOTO, irradiada há uns oito anos por uma estação francesa, já é tempo de irmos apresentando alguma cousa nova no assunto. Por isso recebo com simpatia as inovações que se me apresentam desde que tenham algum senso. Já é tempo, sobretudo, de se abolir de vez aquela irritante descrição de cenário e ambiente, feita por um locutor antes da peça. Algumas estações chegam a descrever detalhes, quando uma peça bem escrita e especificamente radiofônica daria a entender francamente tudo o que o ouvinte precisasse saber”. O articulista de CENA MUDA deixa, explicitamente, uma postura, no início dos anos 40, que não seria aquela crítica de 1948, ao revelar: “Orson Welles é, segundo o meu amigo, um dos mais perfeitos dirigentes de Radiatro do mundo. Antes mesmo do genial criador de CITIZEN KANE aparecer com o seu grande celulóide, já Luiz Maranhão me falava com entusiasmo do cidadão, assim como me falava de cartazes internacionais de radiatro, como MAREMOTO, CREPÚSCULO NAPOLITANO e outros. Maranhão, como já disse em comentário anterior, fala-me também com grande entusiasmo dos trabalhos de Pedro Bloch e acha que este seja o mais perfeito radiautor brasileiro”. O ingresso do autor brasileiro Pedro Bloch neste fechado clube do experimentalismo radiofônico se deu através de dois textos de profundidade: “É proibido fumar e sonhar” e o melhor deles, “Marilena versus Destino” em que toda a ação é demonstrada através da narração de um locutor que assiste a uma luta de box. Os textos são anteriores ao sucesso obtido pelo
médico-escritor no teatro, com duas conceituadas peças experimentais: “As Mãos de Eurídice”, criação consagrada do ator Rodolfo Mayer e “Esta noite choveu prata”, ambas escritas para a representação de um só ator. Pedro Bloch, vítima de comprovado boicote pelos dirigentes do rádio carioca, fez suas estréias radiofônicas em Pernambuco e outras regiões do país e contribuiu com informações escritas, fruto de leituras internacionais, para o esclarecimento de experiências bem sucedidas no estrangeiro. Uma dessas informações foi colhida em jornais ingleses que registraram o sucesso de um gênero radiatral, “So and so”, com a irradiação de histórias curtas em uma hora fixa. O formato é uma das razões que devem ser analisadas, no debate de “Guerra dos Mundos” que, para o Brasil, ficou sendo até tempos recentes, “A Invasão da Terra pelos Marcianos”. O título real só chegou ao mercado quando os primeiros estudos acadêmicos em torno do Rádio foram ao conhecimento do meio profissional. Vale um parêntesis para elucidação de algumas citações que podem não estar acessíveis a todos quantos se envolvem em nosso estudo coletivo. São as referências feitas a MAREMOTO e CREPÚSCULO NAPOLITANO. A primeira peça é citada como exemplo daquilo que convencionamos chamar de RÁDIO-CATÁSTROFE, talvez um batismo muito forte, mas um parâmetro comparativo com o que o cinema fez, décadas depois, com um gênero tipo “Tubarão”, “Inferno na Torre” e assemelhados. Teriam sido essas peças os “efeitos especiais” do Rádio. No ano de 1932, na fase da busca desesperada para fazer com que uma platéia – mais tarde considerada como “os ouvintes” – desse atenção a um novo invento que mexia com a técnica, mas estava distante da massa, os concessionários de uma instalação consentida na histórica Torre Eifel, a emissora “Radiola”, escreveram e produziram o seu próprio espetáculo. Donos da freqüência, P. Cussy e G. Germinet não eram, propriamente intelectuais. Inseriam-se naquele universo de aventureiros polivalentes que falavam ao microfone, ligavam os aparelhos, construíam, reparavam e todos os demais espaços ocupavam, alimentando o sonho do Rádio. O texto de MAREMOTO mostra, tal qual Orson Welles faria, cerca de seis anos depois, uma emissão normal de uma estação, na qual um locutor diz o prefixo e a hora certa e anuncia a música que vai ser tocada. No meio da irradiação, começam as interferências de um telégrafo que evoluem para vozes ininteligíveis. Sobrepõe-se a música e a conseqüente desculpa do locutor pelas interferências. Estas voltam, cada vez com maior intensidade, até que se percebe que a voz é de um telegrafista que pede socorro para um determinado navio que enfrenta difícil tormenta em alto mar. A ação dramática se estabelece quando o locutor tenta ser ouvido pelo suplicante e este, demonstrando não se ter estabelecido uma via de duas mãos, aumenta suas súplicas e insere na transmissão outras vozes, o comandante, os marujos, enfim. A idéia que se passa aos ouvintes é de que há um microfone
aberto na cabine do navio, onde as pessoas discutem, sem saber que estão sendo captadas por uma estação de rádio. E esta, na tentativa de solidariedade humana, clama pela ajuda dos órgãos oficiais e pela colaboração dos ouvintes que possam ser mobilizados. O clímax se dá com uma explosão durante a transmissão, um silêncio prolongado e a explicação dos autores: a ação dramática foi uma ficção, o navio não existe e as coordenadas de latitude e longitude da posição do barco, amplamente informadas, conduziriam a um ponto perdido no centro do Deserto do Saara, onde não haveria oceano algum. O teatro apresentado pela R.A.I. de Roma só chegou até nós através de comentários e críticas do diretor italiano, ANTON GIUGLIO BRAGAGLIA, com a publicação, no Brasil, por editora não identificada, do seu livro que tomou a tradução de FORA DE CENA, exemplar infelizmente destruído nos arquivos de Luiz Maranhão, por uma das enchentes que assolaram o Recife. Apenas na lembrança ficou a idéia geral da “catástrofe”. A ação se desenrola em Nápoles, onde sempre se concentraram os ilícitos penais da Máfia. Nomes de chefões, fictícios com certeza, que estariam encarcerados em presídios da cidade, são citados pelos repórteres como alvos de violentas ações de libertação, promovidas à chegada do crepúsculo. A emissora tenta manter a calma, com a sua programação normal, fraccionada pelas intervenções externas e por telefonemas dados a autoridades não identificadas. Enquanto o texto francês foi irradiado em 1932, supõe-se que a iniciativa italiana é contemporânea do feito de Welles. Quanto ao primeiro, ele chegou ao Brasil nos anos 40, em conseqüência de uma viagem à Europa, do escritor, jornalista e teatrólogo pernambucano Waldemar de Oliveira, diretor do “Teatro de Amadores de Pernambuco”. De posse de uma publicação em francês, fez a devida tradução e ofereceu-a ao Rádio Clube de Pernambuco, para uma transmissão, o que foi feito em data que fica entre os anos 42 a 44, ocupando-se o horário de um “Grande Teatro” e com todas as advertências aos ouvintes de que iria ser apresentada uma peça teatral, sem nenhum vínculo com a realidade. O mesmo tradutor, Waldemar de Oliveira, era um homem afeito à linguagem teatral e radiofônica, pois o seu texto “Tão fácil a felicidade” inaugurou o horário fixo do espetáculo teatral completo, em três anos, na P.R.A.8 no ano de 1938. Curiosamente, este gênero dito sensacionalista poderá ter chegado ao nosso país, pela via do noticiário das agências telegráficas nos jornais, desde os anos 30, quando as experiências radiofônicas atravessavam fronteiras. Tanto é assim que, no ano de 1933, o Radio Clube de Pernambuco realizou um concurso de peças teatrais e o resultado foi surpreendente: um jovem estudante, ainda desconhecido, conquistou o 1°. lugar vencendo dois autores consagrados, os teatrólogos Filgueira Filho e João de Vasconcelos, com um
trabalho do gênero-surpresa. A peça se chamava “Boca da Noite” e focalizava situações de pânico, transmitidas ao telefone por ouvintes que se valiam da vocação de prestador de serviços que o rádio começava a revelar. Tudo em razão de momentânea falta de luz elétrica em diferentes locais. Este autor conquistaria o rádio brasileiro, nos anos 50, transitando pela Radio Nacional e emissoras paulistas: Teófilo de Barros Filho. Em uma entrevista publicada no jornal “Diário da Noite”, do Recife, edição de 12 de agosto de 1947, o radialista Luiz Maranhão aponta os três nomes de maior destaque no rádio americano de então: o próprio George Orson Welles, que visitara o Recife e a P.R.A.8, ciceroneado pelo repórter Antonio Maria, o único que falava inglês no “cast” e mais Cliford Odets e Jules Dassin que tiveram relevo na história do rádio estadunidense, mas muito distanciados da repercussão da “Guerra dos Mundos”, sempre creditada a Welles pelos analistas, omitindo-se o real adaptador Howard Koch. É forçoso estabelecer comparações para se chegar aos antecedentes e conseqüentes desta realização que terminou sendo consagrada como um marco divisório na história do Rádio, a partir do momento em que esta história passou a ser, de fato, objeto de pesquisa e investigação. Uma dessas comparações é o próprio MERCURY THEATRE. O que foi o grupo? Um elenco montado especificamente para compor o “cast” de uma emissora? Evidentemente que não. A sua trajetória começa como um grupo teatral, igual aos outros, destinado ao palco e às montagens da época. Tanto que a sua estréia se dá com “Julio Cesar”, de William Shakespeare, onde Welles começou a revelar a sua inquietação; fez do Imperador Romano o líder fascista Benito Mussolini. Logo Welles, que sempre confessara ter aprendido a ler, desfilando o seu olhar por sobre os textos do bardo inglês. A chegada do grupo de John Houseman e Orson Welles ao rádio se deu em junho de 1938 quando a companhia ganhou um contrato semanal para adaptar clássicos. Pelo repertório, vê-se a seriedade com que o grupo encarou o fato de fazer teatro no rádio: Molière, Goldoni, Checov, Sófocles, Pirandello, Gorki, Stendhal, Voltaire, Swift, Tolstoi, Alan Poe, Saint Exupery, Alexandre Dumas, Flaubert, Hemingway. Será que nesta lista, haveria lugar para o inglês H. G. Wells, não fosse a “brincadeira” imaginada por Orson, como ele sempre considerou esse episódio de percurso do Dia das Bruxas? Interessante é que, no seu pensamento vivo, transcrito por Rogério Sganzerla (“O Pensamento Vivo de Orson Welles” – Martin Claret Editores – S. Paulo – pág. 19), ele admite: “Detesto cinema e teatro, sempre detestei”. É a condução natural para entender porque Welles se diz “um experimentalista por natureza”. Não acreditava muito em purezas. (Obra citada, pág. 75). Teria sido, portanto, o rádio o seu ninho, a sua seara experimental, o veículo adequado para quem tateava nas vertentes o seu norte. Não é em vão
que alguém, jovem e impetuoso aos 22 anos (nascido em 6 de maio de 1915), descobre o rádio e vislumbra os seus caminhos. O seu ingresso em 1936, no programa “March of Time”, dá-lhe a chance da notícia. Tanto que foi jornalista, depois que fez o “Cidadão Kane”. Foi locutor, leitor de notícias, na C.B.S., onde começou a sentir que o rádio e o teatro tinham um casamento pela frente. E fez “Hamlet”, de Shakespeare no rádio, para não se largar de suas raízes. Há uma referência maior que acentua o seu experimentalismo. Foi Orson Welles, com a sua voz de baixo profundo, o ator que deu forma a um personagem enciclopédico, o detetive Lamont Cranston de “O Sombra”, às voltas com o banditismo, o seu tio comissário, o amor de Margot Lane e tantas nuances que só traçavam desafios. Welles experimentou o quanto pode; dele foi uma das primeiras seriações do rádio americano, a imortal história de Victor Hugo, “Os Miseráveis”, destrinchada em 30 capítulos que asseguravam a sua presença como voz de Jean Valgean em toda a história. Desafiou os padrões rígidos da época adaptando a ópera proletária de Bliztein, “Craddle Will Rock”, afinal proibida pela censura. Sua vida no rádio, registrada nos Estados Unidos até 1939, não parou por aí. E se parou, foi para experimentar de novo, desta vez no cinema, fazendo o seu clássico “Cidadão Kane”, concluído em 23 de outubro de 1940 e exibido em 9 de abril de 1941, abalando a crítica e o universo hollywoodiano. É um filme que, para Sganzerla, contém rádio. “Nada mais teatral, no cinema, do que o estilo radionovela adotado em algumas seqüências, talvez em homenagem à sua carreira no rádio” (pág. 62, obra citada). Acrescentamos nós; há mais do que radionovela, pois bastaríamos citar os vários trechos em “off”, onde vale a inflexão radiofônica e, principalmente, a antológica cena do “2°. plano no áudio”, pela primeira vez tentado na história do cinema, quando a mãe e o advogado discutem o futuro do menino no 1°. plano e a voz do garoto, brincando com o seu trenó, faz perceptível o 2°. plano de áudio. Welles foi muito mais o homem do rádio, pois – depois de Kane – está na CBS em 1942 fazendo a propaganda do Exército americano. Mesmo com a viagem ao Brasil em 1942 para rodar “It’s All True”, envolvendo-se com o samba, jangadeiros, a tradição de Ouro Preto e o exotismo da Amazônia, Welles volta ao rádio no ano seguinte para falar de aviação e servir à Armada, na CBS, com “Socony Vacuum”. Outro homem de rádio, o alemão Bertold Brecht, conheceu Welles na Broadway, encenando “A Volta ao Mundo em 80 dias”, do fantasioso Julio Verne, uma prova das preferências do ator-diretor. Mas o temperamento inquieto o levaria à Inglaterra, onde marcou também a sua presença no rádio inglês. Em 1951, foram 39 programas, revelando uma tendência já dominante no mundo: o seriado. “As Aventuras de Harry Lime” e, no ano
seguinte, a adaptação radiofônica de casos misteriosos registrados pela Scotland Yard comprovam, mais uma vez, que o seu desejo era explorar, aos extremos, as técnicas existentes ou ainda a serem inventadas para o novo meio que o fascinava justamente por isso. Havia a possibilidade de criar, de inovar. Se fez televisão na British Broadcasting System – a sigla já popular da BBC – em 1955, a sua permanência foi curta, o que levou o crítico inglês Peter Noble, a destacar o fato de Welles trilhar sempre “o caminho do teatro e do cinema”. Assim ele foi olhado na sua fase européia. Para Jean Cocteau, ele era “um ator trágico”. Para o crítico francês André Bazin, ainda sob o impacto do “Cidadão Kane”, Welles “encarnou o fervoroso ressurgir do cinema americano”. O curioso é que, apesar de Howard Koch, seu companheiro no “Mercury Theater”, ter assumido, perante a imprensa americana, a paternidade da idéia e do próprio roteiro radiofônico de “A Guerra dos Mundos” conforme Sganzerla, à página 103 de sua obra, a fama ficou para Welles, no curso da História. Foi uma conseqüência evidente do Rádio de Autoria, uma tendência que se espraiava pelo universo das ondas sonoras. Não se perguntava, por exemplo, quem criou ou quem escreveu, mas sim o nome do diretor, para muitos o único realizador da obra. A tendência marcou também o rádio brasileiro, desenvolvido por pioneiros como Octavio Gabus Mendes e Oduvaldo Viana, em São Paulo, o Almirante no Rio e os demais donos de “horários fixos”, principalmente no teatro radiofônico adaptado, como é o caso de Manoel Durães, na Record, Plácido Ferreira, na Mayrink entre outros. É evidente que, em um comparativo com o teatro praticado na Broadway e o cinema industrial de Hollywood, a fama do rádio teria reduzidas dimensões. Faltava o que se poderia chamar de “distribuição” com relação ao cinema, posto que o alcance das ondas hertezianas esbarrava nas fronteiras. Em relação ao teatro, um sucesso na Broadway tinha a ressonância, a ponto de influenciar o cinema, na conquista de seus atores. Talvez por isso, apegado ao experimentalismo do nascente rádio, Welles e seu grupo do “Mercury”, vislumbraram a chance do “Hallowen” para fazer a sua “guerra”, considerando-se que o Dia das Bruxas nos Estados Unidos da época, como evento, tinha dimensões muito maiores do que seria, por exemplo, o Dia da Mentira, no Brasil (1°. de abril), também escolhido, em alguns eventos radiofônicos em nosso país. O ressurgimento do mito de “A Guerra dos Mundos”, no Brasil, na celebração dos seus 60 anos, abre a chance de se reestudar o próprio Rádio e realizar aquilo que o próprio Welles tanto desejou: a sua própria desmistificação. “Quanto ao mito Welles, não sei o que significa, realmente. Na verdade, fico sem saber, porque isso me coloca numa categoria à qual não pertenço”. São palavras do diretor bem sucedido que teve o grande mérito de desencadear uma febre de experimentalismo em torno do Rádio,
mesmo que grande parte do mundo só tenha sabido que os marcianos estavam invadindo a terra – ou mais especificamente, a cidade de Nova Jérsei, nos Estados Unidos – através da repercussão dos jornais e das agências telegráficas. Poucos foram os que tiveram acesso ao “script”, ao texto adaptado. No Brasil, houve uma publicação-tradução que precisa ser resgatada. Ela aconteceu em uma primeira fase da revista “Senhor”, ainda no seu formato tablóide, antes da associação a “Isto É”. Tentamos a localização do número referido, mas a redação não deu resposta. Por isso que será de suma importância para um melhor conhecimento de como o Brasil entrou neste círculo de estudos sobre Welles, a localização, em coleções ou arquivos, da publicação citada. Há pesquisas que se referem a “um padrão tradicional de transmissão radiofônica” e a outro grupo de “produções transgressoras”, onde se tenta enquadrar “A Guerra dos Mundos”. É forçoso que se veja não apenas um Welles do Dia das Bruxas, mas todos os Welles do ciclo do “Mercury” e até a sua presença européia. Há, por exemplo, uma citação de Lilian Zaremba a respeito de “A Marcha do Tempo”, irradiada pela CBS, onde Orson Welles teria revivido personagens como o imperador Selassie, o ator Spencer Tracy, entre outros. (Radio Nova, contestações da radiofonia contemporânea – pág. 78). É preciso identificar melhor essa fonte, posto que a função dos locutores de rádio não os levava a “interpretações”. Tal feito não integra a maioria das biografias de Welles. Cita, inclusive, a pesquisadora “a narração dramática e real do naufrágio do navio Titanic” com uma popularidade igual à “Guerra dos Mundos”. É de se indagar que tipo de transmissão foi esta: as “externas” ainda não eram possíveis, salvo com o uso de linha telefônica. Isto prova a inviabilidade da “narração real”. Teria sido, por acaso, uma reconstituição teatral? É de se conferir, com as fontes legítimas. O que não se pode, na análise de “Guerra dos Mundos”, generalizar ao redor da figura e da personalidade de Welles, de forma linear. Insistimos que o Dia das Bruxas foi um “episódio”. E dele ficaram fora, com certeza, estrelas como Lucille Ball, Loretta Young e – quem sabe? -- Joseph Cotten, profissionais da CBS, integrantes do “cast” do “Mercury”, partícipes de todo um repertório clássico, bem comportado, nos padrões da época. A visão externa do pesquisador, como é o caso da citação de M.R.F. Nunnes (“O mito do rádio, a voz e os signos de renovação periódica” – São Paulo – Editora Anna Blume – 1933 – p. 24 – Transcrição de Lilian Zaremba – p. 82) imprime uma interpretação de leigo numa área específica: “Atores que vinham do teatro e agora se exercitavam no rádio. Mas ninguém que ofuscasse a profusão sonora da locução de Welles ou que tivesse um projeto radiofônico tão interessante como esse que agora podemos perceber: dar vida ao universo significante do rádio, moldando-o a partir da voz humana”.
Desconhece o analista o fato elementar de que todo o rádio, no mundo, foi construído a partir da chegada do pessoal do teatro e se Welles, eventualmente, é visto como locutor, o seu projeto foi de ator e de autorroteirista, para usar a linguagem atual. E tudo o que é SIGNIFICANTE no rádio, é feito através da voz humana. Não há outro canal, não há formato. O “xamânico” vai por conta dos modismos academicistas. “Não sou um artista comercializado nem quero fazer arte comercializada; por outro lado, preciso de dinheiro para criá-la; qual é o meu papel? Explorar uma fraqueza de meu país, o seu gosto por mágicas e exibições, do que foge ao respeito humano. Faço a loucura que me passa pela cabeça; com isso interesso o público em mim. Com o interesse do público por mim, faço a minha parte”. São confissões do ator-criador. Mas não se pode ir ao extremo de afirmar a existência de “um universo vertiginosamente ambíguo de suas produções radiofônicas, como quer a pesquisadora citada. Se a “Guerra dos Mundos”, foi ambígua, entre o real e o surreal, entre o natural e o artificial, não o foram o seu Molière, Goldoni, Pirandello, Gorki, Flaubert ou Hemingway do repertório radiofônico do “Mercury”. É preciso ir a todos os textos para tal generalização, que é falsa, pois se Welles compreendeu a diversidade de espaços e tempos, ele não fez, com “Guerra dos Mundos”, seu modelo definitivo. Se surpreendeu os ouvintes, se causou pânico na cidade de Nova York, muito mais estranheza causou ao próprio autor da obra de ficção, o inglês H. G. Welles que se manifestou em violentos protestos, ao saber a utilização livre de sua obra por um jovem ator que ele só conheceria, pessoalmente, em 1940. Tem razão o companheiro de Welles, John Houseman: “tudo não passou de uma questão de timming” (Está no Catálogo “The Museum of Television & Radio”, segundo a pesquisadora). Foi a vitória da nova mídia sobre os bem postos jornais da época. Vale concluir com Houseman, na transcrição citada: “Durante vários dias após a transmissão, estava aberta a questão difícil de responder: éramos heróis ou vilões? Gradualmente a opinião pública foi ficando a nosso favor muito em função de um artigo que Dorothy Thompson escreveu, e ela era uma colunista influente, alertando para o fato de que nós tínhamos feito um favor ao povo, chamando sua atenção para os poderes que um grande pânico poderia causar no caso de um real ataque inimigo ao país”. Esta é, de fato, uma posição pragmática, que nos serve de razões finais. Afinal, tanta pesquisa em torno de um “episódio” ou um “acidente de percurso” que deu certo, ignora duas faces de uma mesma moeda: aconteceria o mesmo, fora dos Estados Unidos, um país que vivia em tensão permanente diante da ameaça de uma real guerra mundial que ocorreria logo em seguida? E qual o país do mundo que possuía então um Rádio
Competitivo de dois canais que se enfrentavam, um deles possuindo o trunfo de uma coqueluche nacional, que era a famosa “marioneta” Charlie Mc Carthy? Será que a atual geração não poderia ter acesso aos filmes desse genial boneco que chegou ao extremo de ser o detetive em tramas policiais, para poder entender o desafio que se colocou diante de Welles por parte da CBS? Vencer o concorrente?
Bibliografia 1. As transcrições estão inclusas no próprio texto e são obras de conhecimento geral, presentes com certeza em outros textos. 2. Gostaria de renovar o apelo para uma “busca nacional” em torno do livro “Fora de Cena”, de Anton Giuglio Bragaglia, se quisermos entender as raízes do Rádio. Teria sido a Editora “A Noite”? 3. Editora da Revista “Senhor” - 1a. fase – O povo do rádio apela para a republicação da 1a. tradução de “Guerra dos Mundos”, chegada ao Brasil. 4. Onde existem arquivos das revistas FON-FON, CENA MUDA e CARIOCA, que mais abordaram o rádio no Brasil? 5. Desculpem a irreverência!
14. No polo da recepção: a encenação autorizada de uma guerra As consequências de A Guerra dos Mundos revitalizaram o interesse pelo estudo dos efeitos da mídia. As pesquisas então realizadas demonstraram a importância da observação do contexto, da heterogeneidade da audiência e do reconhecimento da autoridade do emissor no pólo da recepção.
por Mágda Cunha Jornalista, Mestre em Comunicação, doutoranda em Letras e Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Por que certas pessoas acreditam em tudo o que ouvem e outras sempre colocam qualquer informação em dúvida? Por que alguns são crédulos e outros desconfiados? Ou por que muitos exigem sempre mais provas e outros se convencem com as primeiras informações que recebem? Estas perguntas, adaptáveis a qualquer situação da vida cotidiana, podem perfeitamente representar a dúvida de muitos pesquisadores sobre a reação dos ouvintes em torno de um dos acontecimentos que mais marcou a história das transmissões radiofônicas: A Guerra dos Mundos, adaptada para o Rádio por Orson Welles. Condições psicológicas, unidas ao contexto, podem ser apresentadas para justificar determinadas reações. Outros fatores, associados a essas, devem ser levados em consideração, como a autorização dada pelo próprio grupo para que o emissor, aqui no caso o comunicador, se transforme em seu porta-voz. Trata-se do que BOURDIEU (1996) classifica como atos de autoridade ou atos autorizados. Na noite de 30 de outubro de 1938, a apresentação pelo Rádio do romance de autoria de H.G. Wells provocou grande pânico junto à população. De seis milhões de ouvintes, dois milhões acreditaram tratar-se de uma emissão de informação e um milhão cedeu ao pânico. MATTELART (1994: 85) relata que o famoso episódio pode ser interpretado, de alguma maneira, “como uma parábola” que as concepções manipulatórias da mídia deixaram no período entre as duas guerras. O acontecimento criado por Orson Welles permitia, pela primeira vez, testar em dimensão real as condições de sugestibilidade, do contágio recíproco do pânico. Segundo MATTELART (1994), no plano das representações sociais, as cenas de emoção, que se traduziram em atos irrefletidos, não foram as últimas a consolidar a idéia da onipotência da nova técnica de comunicação pelas ondas hertzianas. A surpreendente popularidade do Rádio e o emprego sistemático de técnicas dos Meios de Comunicação de Massa pelos regimes totalitários da década de 30, redundaram na proliferação de pesquisas empíricas dos meios de massa, transformando-se numa das principais tradições dos estudos norteamericanos de atitudes. Um dos principais institutos de pesquisas sociológicas daquele país, o Bureau de Pesquisa Social Aplicada da Columbia University, começou como o Escritório de Pesquisa do Rádio. DAVIS (1968:45) observa que os estudos sobre os meios de comunicação de massa produziram um volume extraordinário de conclusões sobre atitudes. “De um modo geral, as pessoas ligadas ao Rádio se sentiram assombradas pelas suas possibilidades. A idéia de que um homem só, falando ao pé de uma haste bulbosa, pode alcançar milhões de ouvidos é surpreendente...” Nos anos 30 e 40, as análises tentavam descobrir os temas que faziam oscilar homens e mulheres, enquanto também eram realizados estudos
intensivos das comunicações particulares. Um dos estudos sobre o impacto do programa, de autoria do sociólogo Hadley Cantril, revela que antes mesmo de terminar a emissão, por toda parte, nos Estados Unidos, havia pessoas que rezavam, choravam e fugiam freneticamente para escapar da morte nas mãos dos marcianos. De suas entrevistas com as pessoas afetadas pela emissão, CANTRIL(1985) concluía que o melhor meio de prevenção contra o pânico era a instrução. O pesquisador tentou verificar por que alguns haviam sido enganados pelo programa e outros, não. Segundo ele, é provável que em nenhuma outra ocasião tantas pessoas nos Estados Unidos tenham experimentado um transtorno tão intenso como naquela noite. A situação criada pela emissão radiofônica mostra como as pessoas reagem em momentos de tensão, informando ainda sobre sua inteligência, suas ansiedades e suas necessidades, informações que, na opinião do sociólogo, nunca poderiam ser conseguidas por meio de testes ou estudos experimentais. Grande parte das informações têm origem nos interrogatórios detalhados de 135 pessoas. Conforme relataram, alguns correram em busca de pessoas queridas e outros telefonaram para despedir-se ou alertar os amigos. Correram para avisar seus vizinhos, buscaram informações nas redações dos periódicos e nas emissoras de Rádio, chamaram ambulâncias e carros da polícia. Um elevado número de ouvintes, especialmente de camadas sociais e culturais mais baixas, chegavam a confiar mais no Rádio do que nos jornais, no que diz respeito às notícias. Quase todos os que se assustaram afirmaram considerar o Rádio um meio que deveria ser utilizado em ocasiões de grande importância. De acordo com seus relatos, a finalidade do veículo é chegar a todos, especialmente em momentos de crise. Outros lembraram, inclusive, que os locutores sempre dizem quando se trata de uma obra teatral. Todavia, o próprio roteiro do programa trabalhava com a credibilidade que o Rádio tinha junto ao público. Personagens fictícios emprestavam, através de seus depoimentos, esta mesma credibilidade à situação encenada. Professores, militares e até mesmo o cientista Richard Pierson, interpretado por Orson Welles e personagem principal do drama, falavam durante a programação. A técnica dramática surtiu efeito, segundo CANTRIL(1985). Alguns ouvintes deram crédito ao roteiro em função dos depoimentos de autoridades. Um deles afirmou considerar a situação perigosa no momento em que ouviu ali todos aqueles militares e o secretário de Estado. Um dos questionamentos importantes levantados por CANTRIL(1985) em sua pesquisa é por que alguém que sintonizara a emissão desde o início, confundiu a representação claramente anunciada com um noticiário. Em primeiro lugar, muitas pessoas que sintonizaram para ouvir uma obra do Mercury Theatre acreditaram que o programa normal havia sido interrompido para a apresentação de boletins especiais de
notícias. Não se tratava de uma técnica nova, a partir da experiência com as informações radiofônicas sobre a ameaça de guerra em setembro de 1938. Outro motivo para a confusão foi o hábito muito comum de não prestar atenção aos primeiros avisos de um programa. Muitos não escutam atentamente as emissoras, até observarem que o assunto abordado é de seu particular interesse. CANTRIL(1985), antes de analisar as razões para uma conduta tão variável, distribuiu as reações em vários grupos. A primeira classificação estabelecida é dos ouvintes que comprovaram a verdadeira natureza da emissão. São pessoas que não se assustaram, porque puderam discernir que era uma apresentação fictícia. Para alguns, a semelhança com a literatura de ficção, a que estavam acostumadas, é que levou à certeza de que as informações eram falsas. Outro grupo reúne os que compararam a emissão com outras informações, considerando-a extremamente fantástica para ser verdadeira. Estes usaram a comparação das notícias do programa com outras informações para comprovar suas suspeitas. Um terceiro grupo, classificado por CANTRIL(1985), merece especial atenção. Trata-se dos que compararam o programa com outras informações e que, por diversas razões, continuaram acreditando que a emissão era um autêntico boletim de notícias. O método de verificação mais freqüente utilizado por este grupo, consistiu em olhar pela janela ou sair à rua. Muitos telefonaram aos amigos ou correram a perguntar a seus vizinhos. Suas comprovações foram ineficazes. Isto porque as novas informações que obtinham apenas corroboravam com seus pensamentos. Mesmo olhando pelas janelas de suas casas e observando que a situação não se alterara, certos ouvintes imaginavam que a tragédia ainda não havia chegado ao seu bairro. Um quarto grupo não tentou comprovar a emissão radiofônica. Seus integrantes afirmaram estar tão aterrorizados que em nenhum momento lhes ocorreu fazer qualquer indagação em torno da transmissão radiofônica. Mais da metade das pessoas deste grupo se assustaram tanto que, ou deixaram de ouvir o programa e saíram a correr freneticamente, ou permaneceram paralisadas. Segundo CANTRIL(1985), diversas influências e circunstâncias condicionaram a situação de pânico resultante da emissão radiofônica. As características de personalidade conferiam a alguns indivíduos uma certa inclinação à credulidade e ao medo. A influência de outras pessoas também foi causa de reações. O pesquisador considera que condições psicológicas podem criar na pessoa um estado mental classificado como sugestibilidade. Os indivíduos podem relacionar um determinado estímulo a uma ou várias referências que considerem relevantes para interpretação. Este estímulo, então, intervém num contexto mental que o aceita como perfeitamente consistente e sem contradição. Uma pessoa com referências que lhe permitam situar ou dar
sentido a um estímulo de modo quase automático, não encontra nada que possa contrariar esta aceitação. Suas referências levam-na a esperar a possibilidade de tal ocorrência. CANTRIL(1985) averiguou que muitas pessoas que sequer trataram de verificar a emissão tinham atitudes mentais preexistentes. Desta forma, o estímulo lhes resultava tão compreensível que imediatamente o aceitavam como certo. Muitos indivíduos religiosos acreditavam nos desígnios de Deus sobre os destinos do homem, crendo, ao mesmo tempo, numa invasão do planeta e destruição de seus habitantes em conseqüência de uma força maior. Certos ouvintes foram tão influenciados pela recente ameaça de guerra, que aceitavam a possibilidade de um ataque iminente de potências estrangeiras ou de uma invasão, fosse de japoneses, de Hitler ou de marcianos. Seja qual for a causa que originou uma rápida aceitação da história transmitida pelo Rádio, CANTRIL(1985) ressalta como importante o fato de muitos já possuírem um contexto no qual situaram imediatamente aquele estímulo. As pessoas que careciam de oportunidades de informação e educação tiveram também limitações para interpretar a emissão como ficção. Indivíduos de educação mais elevada foram capazes de relacionar um acontecimento dado com uma referência que julgassem apropriada. Outras condições de sugestão também são citadas por CANTRIL(1985). O indivíduo tenta comparar suas informações, mas o faz com dados não confiáveis, como no caso de A Guerra dos Mundos. Muitos conferiram junto a amigos e vizinhos atingidos pela mesma transmissão. Outros já consideravam a emissão tão verdadeira, que as comprovações contrárias que puderam obter se transformaram em provas confirmatórias. Mesmo buscando informações em diferentes emissoras, certos ouvintes entenderam que estas tratavam deliberadamente de acalmar a população e por isso não falavam sobre o assunto. Pode ser descrita também como condição de sugestão quando um indivíduo se vê diante de um estímulo que deve interpretar, mas não encontra, entre as referências de que dispõe, nada adequado para esta tarefa. O contexto mental deste indivíduo, segundo CANTRIL(1985), necessita de uma estrutura adequada, mas o estímulo não encaixa em nenhuma das categorias por ele estabelecidas e então ele busca uma referência que possa ser útil neste caso. Quanto menos estruturado é seu contexto mental, menos capaz ele será de compreender o estímulo e maior será sua ansiedade. Mais desesperada também será sua necessidade de interpretação, quanto mais disposto ele estiver a aceitar a primeira conclusão a que tenha chegado. Condições de contexto e autorização Muitas condições, segundo CANTRIL(1985), existiam para levar os indivíduos, que escutaram a invasão marciana, a acreditar no fato como
verdadeiro. Entre elas, um universo mental carente de referências estáveis, mediante as quais pudesse ser avaliado o programa. No caso dos que possuíam alguma referência, estas eram vagas e precárias, uma vez que no passado não se haviam revelado suficientes para interpretar outros fenômenos. Sem dúvida, o contexto em que a população americana estava inserida na época pode levar às principais conclusões sobre a situação de pânico e, antes de mais nada, de credibilidade dada à transmissão emitida pelo Rádio. Além disso, diferentes grupos de pessoas receberam a emissão radiofônica de maneira particular. Cada um deles teve esta recepção de acordo com suas próprias referências, apresentando, conseqüentemente, diferentes motivos para interpretar a “invasão marciana” a sua maneira. Entre os fatos que compunham o contexto aparece a inquietação econômica do momento e a conseqüente insegurança experimentada por muitos ouvintes. A depressão havia durado aproximadamente 10 anos e muitos americanos encontravam-se desempregados. A invasão, para eles, segundo CANTRIL(1985), encaixava perfeitamente com a seqüência de misteriosos acontecimentos daquela década. A carência de referências estáveis em torno dos aspectos econômico e político criou em muitas pessoas um desequilíbrio psicológico. Mesmo os ouvintes com certa segurança econômica, também buscaram uma interpretação capaz de dar significado àquele novo acontecimento. CANTRIL(1985) apresenta um quarto elemento de sugestão, referente a um indivíduo ao qual faltam referências por meio das quais orientar-se, sem o conhecimento de que há outras interpretações possíveis, além da que lhe foi apresentada em primeiro lugar. Este indivíduo aceita como verdade tudo o que ouve ou lê sem pensar sequer em fazer comparações com outras informações. De qualquer forma, a falsa referência provocada pela emissão tinha suas raízes em valores que formavam parte de seu ego. Aliada ao contexto político-econômico da época está a própria presença do Rádio como veículo de comunicação. LAVOINNE (s.d.) lembra que no final dos anos 20, eram atribuídos ao Rádio poderes quase mágicos, tanto benéficos quanto maléficos. Para os que o defendiam, o veículo constituía um prodigioso meio de difusão da cultura e conseqüentemente da igualdade e da democracia culturais. Para os contrários, a nova técnica era um fator de confusão intelectual, que se transformaria, quando submetida aos poderes dos Estados, em instrumento de propaganda e de condicionamento. Quando transformada em números, a credibilidade do Rádio se torna ainda mais forte. Dos 32 milhões de famílias recenseadas na época nos Estados Unidos, 27 milhões e 500 mil tinham Rádio. Além disso, devido às condições da época, havia uma forte tendência para confundir a realidade com a ficção.
Associando-se então as características do contexto político e econômico dos Estados Unidos, na época em que foi transmitida A Guerra dos Mundos, à situação de credibilidade do Rádio como veículo de comunicação, é possível descrever ouvintes preparados para interpretar a emissão exatamente da forma como ela foi recebida. Na verdade, a invasão marciana encontrou na época um campo muito fértil para germinar o pânico desencadeado. Trata-se de uma emissão com conseqüências autorizadas pela própria recepção. A sociedade já vivia com uma referência no limiar do pânico e emprestava ao Rádio uma credibilidade quase mágica. BOURDIEU(1996:85) afirma que “a questão ingênua do poder das palavras está logicamente implicada na supressão inicial da questão acerca dos usos da linguagem e, por conseguinte, das condições sociais de utilização das palavras.” Segundo ele, apenas em casos excepcionais, com situações abstratas e artificiais de experimentação, as trocas simbólicas se reduzem a relações de pura comunicação e o conteúdo informativo da mensagem esgota o conteúdo da comunicação. O poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz cujas palavras (de maneira indissociável, a matéria de seu discurso e sua maneira de falar) constituem no máximo um testemunho, entre outros, da garantia de delegação de que ele está investido. Partindo deste princípio, o Rádio, nos anos 20 e 30 possuía poder constituído para falar em nome de seus ouvintes. Do veículo vinham as informações nas quais eles deveriam acreditar. Afinal, o Rádio era utilizado somente para informações muito importantes. O uso da linguagem, segundo BOURDIEU (1996), ou seja, tanto a maneira como a matéria do discurso, dependem da posição social do locutor. Neste caso, para os ouvintes, o locutor que usava o meio Rádio tinha autoridade. Fosse ela positiva ou negativa, havia autorização. O porta-voz autorizado consegue agir com palavras em relação a outros agentes e agir sobre as próprias coisas, na medida em que sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é o procurador. As condições a serem preenchidas para que um enunciado performativo tenha êxito se reduzem à adequação do locutor, de sua função social e do discurso que ele pronuncia. O autor ressalta que o êxito das operações de magia social, que são os atos de autoridade ou os atos autorizados, está subordinado à confluência de um conjunto sistemático de condições independentes que compõem os rituais sociais. “Conforme se pode constatar, todos os esforços para encontrar na lógica propriamente lingüística das diferentes formas de argumentação, de retórica e de estilística, o
princípio de sua eficácia simbólica, estão condenados ao fracasso quando não logram estabelecer a relação entre as propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia e as propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo.”(BOURDIEU, 1996:89) A linguagem de autoridade governa sob a condição de contar com a colaboração daqueles a quem governa, graças à assistência dos mecanismos sociais capazes de produzir tal cumplicidade, fundada no desconhecimento que constitui o princípio de toda e qualquer autoridade. Para que qualquer ritual funcione e opere, considera BOURDIEU (1996), primeiro é preciso que ele se apresente e seja percebido como legítimo, pois o simbolismo estereotipado contribui exatamente para evidenciar que o agente está agindo na condição de depositário provido de um mandato e não em seu próprio nome ou de sua própria autoridade. A eficácia simbólica das palavras se exerce apenas na medida em que a pessoa-alvo reconhece quem a exerce como podendo exercê-la de direito, ou então, quando se esquece de si mesma ou se ignora, sujeitando-se a tal eficácia, como se estivesse contribuindo para fundá-la por conta do reconhecimento que lhe concede. As reações dos indivíduos diante das diferentes situações a que são expostos estão, sem dúvida, com freqüência, no alvo de repetidos questionamentos. Saber por que uma pessoa age de certa forma quando exposta a uma situação e outra responde de maneira totalmente diferente, deve estar baseado numa análise que controla diversas variáveis. É possível afirmar, todavia, que as respostas estarão muito ligadas às referências mentais que cada qual acumula. Além disso, estarão somadas a condições que o próprio contexto impõe à vida de cada um. Ao analisar as conseqüências desencadeadas junto aos ouvintes norteamericanos, a partir da transmissão de A Guerra dos Mundos, em 1938, CANTRIL(1985) dividiu o público em grupos conforme suas reações e contextos culturais e econômicos. Condições psicológicas criam um estado mental classificado de sugestibilidade. Alguns possuem atitudes mentais que justificam a crença naquilo que estão ouvindo. Outros, de nível educacional mais elevado, também buscaram explicações, mas encontraram, em suas próprias referências, justificativas mais adequadas. Muitos buscam explicações, mas também associadas aos seus contextos, como na vizinhança ou com amigos, e acabam por confirmar a interpretação já feita em torno do fato.
Independente do grupo a que pertencessem na época, conforme a divisão feita pelo sociólogo que pesquisou o caso, os ouvintes, em sua maioria, foram atingidos pela transmissão. Alguns apenas por poucos instantes, até conferirem que se tratava de uma ficção, outros chegaram ao desespero, podendo haver, de certa forma, uma ligação entre todos eles. Outro aspecto comum é o próprio contexto em que se encontrava o público na época: a depressão econômica, o desemprego, a ameaça de guerra e uma forte credibilidade do Rádio como um veículo de comunicação a ser utilizado somente para transmissão de fatos muito importantes, mas com poderes quase mágicos. A isso deve ser associada a competência da equipe de Orson Welles na adaptação do texto a um script radiofônico, reunindo não somente efeitos, mas fontes com grande credibilidade junto à sociedade, como professores e militares. A partir da união de todas essas variáveis, é possível afirmar que a transmissão de A Guerra dos Mundos, como uma fórmula quase perfeita, refletiu apenas a guerra social, política e econômica que já vivia a população norte-americana da época. Ela surgiu como um reflexo dos sentimentos que dominavam o pensamento dos americanos naquele período. Ao mesmo tempo, ao acreditarem por um curto ou longo período na veracidade das transmissões, os indivíduos mentalmente autorizaram o veículo Rádio a conduzirem seus pensamentos. As considerações de BOURDIEU (1996), quando fala que o poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz, refletem a autorização que os ouvintes concedem ao Rádio, ao emissor, naquele momento. É fundamental relacionar as propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia e as propriedades da instituição que o autoriza. Neste caso, estão A Guerra dos Mundos, a partir de um trabalho radiofônico competente, o Rádio, em um momento de grande credibilidade, e os ouvintes, inseridos numa sociedade norte- americana problemática. Neste caso, o ritual, como cita BOURDIEU (1996), se apresentou e foi percebido como legítimo. As pessoas-alvo, no caso os ouvintes, reconheceram o Rádio como podendo exercê-lo de direito. Esqueceram-se de si mesmos, de seus conhecimentos e de sua própria capacidade de duvidar do veículo, sujeitando-se a sua eficácia, contribuindo para consolidá-lo, por conta do reconhecimento que lhe concederam. Com esse comportamento, inscreveram na história das comunicações e nos debates sobre a influência dos meios, a transmissão de A Guerra dos Mundos. Hoje, 60 anos depois, o fato ainda é alvo de pesquisas. Não fossem as reações desesperadas daqueles ouvintes, em função de um contexto difícil no qual viviam, a adaptação de Orson Welles talvez não passasse de mais um programa radiofônico como tantos que o Rádio levou ao ar nos últimos 60 anos e vem apresentando desde sua fase inicial. Em muitos casos, a reação dos ouvintes sequer é levada em consideração, uma vez que o dia-a-
dia de muitos deles chegou à banalização que controla o pânico. Certas perguntas em torno das reações do público, diante da comunicação, poderão encontrar diferentes respostas, em diferentes momentos, de acordo com o contexto e a autorização que o receptor conceder aos respectivos emissores. Porém, permanece sempre a questão: por que certas pessoas acreditam em tudo o que ouvem e outras sempre colocam qualquer informação em dúvida? Bibliografia BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1996. CANTRIL(1985), Hadley. La invasión desde Marte. In MORAGAS, M. de. Sociologia de la comunicación de masas. Estrutura, funciones y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. DAVIS, James A. A sociologia das atitudes. In PARSONS, Talcott (org.) A sociologia americana. Perspectivas, problemas e métodos. São Paulo: Cultrix, 1968. LAVOINNE, Yves. A rádio. Lisboa: Vega (s.d.) MATTELART, Armand. Comunicação-Mundo. História das idéias e das estratégias.Petrópolis: Vozes, 1994.
15. Quando é o jornalismo que faz ficção Enquanto a experiência de Orson Welles ensina, com os seus efeitos dramáticos sobre a sociedade, que o ouvinte tem necessidades e depende da informação corretamente oferecida, o jornalismo radiofônico brasileiro parece apostar no caminho inverso: são notícias sem contextualização, sem análise.
por Romário Schettino Jornalista, poeta e ex-diretor da Rádio Cultura FM do Distrito Federal. Trabalhou em vários jornais de Brasília e atualmente assessora a Secretaria de Cultura e Esporte do DF.
Uma novidade foi introduzida na programação teatral da rede de rádio CBS norte-americana: o jornalismo ficcional. Aconteceu em 1938, na noite do dia 30 de outubro. Orson Welles e Howard Koch mal sabiam que estavam inovando também numa área que não dominavam, nem mesmo os demais radialistas da época, já que a missão principal do rádio, naquele momento, ainda era tocar música e apresentar peças de teatro. O rádio estava praticamente nascendo como meio de comunicação de massa. Percorrendo o caminho inverso de certo jornalismo brasileiro, Orson Welles deu vida aos seus personagens da ficção e os tornou tão reais que provocaram um dos maiores pânicos coletivos da história. Milhares de ouvintes passaram por momentos dramáticos em suas residências, saíram às ruas em diversos pontos dos Estados Unidos, provocaram acidentes, alguns se suicidaram e outros simplesmente não acreditaram no que estavam ouvindo. Ou seja, Orson Welles provocou reações, participação. A história contada por Welles, tão inusitada quanto impossível de estar acontecendo na vida real, só pôde ter a repercussão que teve porque estava sendo contada no rádio, o veículo que permite a aproximação perfeita entre os vários elementos da comunicação. O devastador efeito provocado pela encenação radiofônica de A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, deveu-se, fundamentalmente, ao emprego de técnicas jornalísticas. Segundo o texto de Hadley Cantrill(1) “muitas pessoas que sintonizaram para ouvir uma obra do Mercury Theatre acreditaram que o programa normal havia sido interrompido para dar lugar a boletins especiais de notícias”. Esta técnica jornalística, a rigor, já havia sido experimentada no rádio a propósito da ameaça de guerra em setembro de 1938. O que aconteceu naquele dia 30 de outubro, a despeito de se tratar de um fenômeno social bastante mais complexo, também pode ser creditado ao clima de guerra associado ao realismo empregado na transmissão radiofônica. O que impressiona hoje, sessenta anos depois, é o fato de uma massa enorme de pessoas, das mais diversas regiões dos EUA, ter sido levada ao estado de pânico diante de uma obra de ficção. Este casamento do jornalismo com a ficção é a mais evidente demonstração de que os fatos, a versão dos fatos e a invenção de fatos são matérias primas da imprensa, da comunicação. A maneira como se manipulam estes elementos vai definir as intenções de quem deles faz uso, segundo sua ideologia, seu poder e sua condição social. O jornalismo e o rádio evoluíram juntos, ampliaram seus objetivos, aperfeiçoaram suas técnicas e tecnologias. Infelizmente, o jornalismo que se pratica hoje no Brasil, sobretudo o radiofônico, não reflete as possibilidades que o meio oferece. O rádio é capaz de fornecer e receber notícias em tempo zero, mas os proprietários das emissoras e os jornalistas ainda tratam o meio como uma mera extensão da imprensa escrita ou televisada.
O “jornalismo” de Orson Welles abriu possibilidades, alertou para o perigo da manipulação e, sobretudo, mostrou que a perfeição técnica, entre outros elementos, é capaz de tornar “real” o mundo fantástico da literatura. A propósito, Tzvetan Todorov, no livro Introdução à Literatura Fantástica, diz que o “fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”. Os marcianos descritos por Welles eram tão “reais” que os ouvintes chegaram a imaginá-los, senti-los, ou mesmo “vê-los”, diante de uma paisagem sombria descortinada por alguma janela. Esta é a força de A Guerra dos Mundos, um programa que interferiu no imaginário coletivo com imagens fantásticas que fugiam da experiência cotidiana. O radiojornalismo brasileiro, sobretudo o das rádios FM, transforma em ficção a realidade nacional. Não há reportagens e as poucas transmissões ao vivo não refletem o acontecimento na sua totalidade. Não há sequer uma experiência de documentário radiofônico com regularidade. A opção preferencial pelas notícias “frias” feitas em redação, copiadas dos jornais e das agências noticiosas acaba por construir um clima “ficcional”, distante, incompatível com a missão do rádio em termos educativos, formador da cidadania. Por tudo isso, os motivos econômicos não deveriam ser os preponderantes. O mercado não pode, e não deve, ser o único regulador desta atividade que é uma concessão do Estado. As rádios existem não só para preencher as demandas da sociedade criadas pela própria mídia, mas essencialmente para oferecer opções e permitir que a sociedade se expresse através delas. Este impasse poderia ser parcialmente resolvido se o Brasil, por exemplo, tivesse avançado com a rapidez que a modernidade exige na regularização das emissoras de baixa potência, ao invés de resistir a toda e qualquer proposta que democratize as comunicações. O Congresso Nacional, onze anos depois, ainda não regulamentou o Conselho Nacional de Comunicação que a Constituição criou. Por quê? O conservadorismo não deixa. O corporativismo não permite. Os parlamentares que decidem os destinos da Nação representam uma aristocracia decadente que ainda domina o cenário político brasileiro. O nosso modelo concentrador de propriedade dos meios de comunicação não encontra similar em nenhuma outra parte do mundo. Estes Citizen Kanes não querem, não aceitam, compartilhar o poder que detêm sobre a consciência coletiva. São os plutocratas contra quem lutou a vida inteira Orson Welles e contra quem devem se dirigir todas as forças populares, desde que organizadas e preparadas para o embate. O jornalismo produzido nas rádios FMs brasileiras é ascético, nãoinvestigativo, quase nulo. A CBN não foge a estas avaliações, apesar de “tocar” notícia 24 horas por dia nas duas freqüências, AM e FM. Sobre a CBN vamos falar em outro parágrafo.
A afirmação de que rádio FM deve privilegiar a música, porque os ouvintes assim preferem, já está superada. O acesso fácil e já corriqueiro aos aparelhos FM vem mudando os hábitos. A qualidade do som estéreo é melhor, “mais limpo”, e já é possível encontrar “notícias” em meio a programações musicais dos mais diversos estilos. O problema persiste, há “notícias”, mas não há jornalismo, pelo menos no sentido social do termo. Esta questão deveria estar mais presente nos debates acadêmicos e não está. A maioria das escolas de comunicação tem omitido, esquecido mesmo, este tipo de discussão e o resultado é a ausência de objetivos estratégicos, éticos, morais, ideológicos, na formação dos estudantes de jornalismo de maneira geral. O Brasil lança no mercado de trabalho centenas de jovens jornalistas desprovidos de senso crítico quanto ao seu papel social. Esta condição é visível nas redações, nas assessorias de imprensa, enfim, em toda parte. Enquanto a experiência de Orson Welles ensina, com os seus efeitos dramáticos sobre a sociedade, que o ouvinte tem necessidades e depende da informação corretamente oferecida, com depoimentos verdadeiros e dito por pessoas qualificadas, no momento exato em que os fatos estão acontecendo, o jornalismo radiofônico brasileiro prefere apostar no caminho inverso. São notícias sem contextualização, sem análise. Somos bombardeados diariamente com notas ridículas que nos informam que há uma matança generalizada na Argélia, mas somos privados de saber porque isso acontece. Se não há uma única versão para estes fatos, pelo menos deveríamos ter acesso às várias opiniões. A cobertura sobre a votação da reforma da Previdência é acompanhada pelo jornal ou pela TV, quase sempre com 24 horas de atraso e sem os mais importantes aspectos da questão apresentados. É um assunto polêmico, árido, que deveria ser traduzido para o grande público. Outro exemplo, são os noticiários sobre o combate ao tráfico de drogas. De vez em quando são noticiadas grandes apreensões de cocaína nos apartamentos da Zona Sul do Rio de Janeiro, no aeroporto, mas tudo se resume a matérias pouco desenvolvidas. Nunca fomos informados sobre o que aconteceu com os presos, quem são eles, quais são suas ligações. Há risco de vida, é certo, mas há muita hipocrisia. Os preconceitos raciais, de sexo ou de gênero são tratados com irresponsabilidade, mau gosto. Por estes motivos, chega-se à conclusão de que vivemos no Brasil um jornalismo de ficção, onde nada importa senão a satisfação imediatista e a sensação de que estamos por dentro do que se passa no mundo. Esta condição de “bem informados” nos leva a outra situação muito mais dramática, a de alienados de nós mesmos. Pode-se dizer que os ouvintes de rádio nos Estados Unidos mudaram seu comportamento com relação ao meio depois de A Guerra dos Mundos, mas pode-se garantir que outros pânicos já foram criados, com muito mais sutileza e, quem sabe, com um
poder destruidor muito maior. É o caso da espetacular transmissão da Guerra contra o Iraque, feita com tecnologias inimagináveis, que a TV transformou em um atraente brinquedo eletrônico. Os telespectadores tinham a guerra dentro de casa, mas não sabiam nada do que estava acontecendo com os iraquianos. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, mas todo o mundo está “informado”. O rádio brasileiro está distante dos assuntos que mobilizam a sociedade porque não quer “contrariar” o mercado. Assim, nos encontramos num ciclo vicioso: o rádio rende com publicidade porque satisfaz seus ouvintes, alienando-os de seus direitos e deveres, tornando-os seres passivos diante das informações noticiosa e musical que escolhem segundo determinação da indústria cultural fonográfica, que, por sua vez, sempre se baseia em pesquisas claramente “de-formadoras” da opinião pública. O rádio interativo, no bom sentido, não estes exagerados usos do telefone apenas para jogar conversa fora, deveria suprir toda a demanda da sociedade se a orientação jornalística estivesse atenta ao perfil psicológico de seus ouvintes. Quando um ouvinte liga para a rádio ele quer tratar de seu assunto particular e a função do rádio é mostrar a ele que o seu drama individual, se compartilhado, poderá servir para buscar soluções coletivas. Nada impede, no entanto, que a simples satisfação individual seja contemplada, com o devido respeito aos direitos humanos. Estes objetivos se conseguem integrando a palavra da autoridade com a opinião popular e viceversa. É também uma tendência do radiojornalismo o culto à personalidade e à autoridade. Ouve-se mais os poderes constituídos do que a população, que sempre reage às propostas, nunca propõe. Este comportamento está vinculado à valorização da democracia representativa em contraposição à democracia participativa; está vinculado ao presidencialismo exacerbado da sociedade brasileira, que se reflete sempre na figura do “doutor” presidente ou chefe de qualquer coisa. Um trabalho contínuo, preocupado com a construção da cidadania, certamente contribuirá para eliminar situações de pânico, como a de 1938 em A Guerra dos Mundos. Segundo Cantrill (2), esse pânico é “resultante de uma carência de capacidade crítica que conduz ao medo. A influência (do rádio) e de outras pessoas vizinhas foi a causa dos ouvintes terem reagido inadequadamente”. Ou seja, a falta de conhecimento como motivo das grandes catástrofes da humanidade. O rádio tem este duplo papel: informar e formar opinião, deixando sempre abertos os canais de comunicação, imediatos e extremamente sensíveis. A comunicação é uma via de mão dupla que é construída permanentemente; não há um emissor e um receptador estanques, parados no tempo e no espaço. O jornalismo traz em si estes componentes, com a interferência do jornalista, que não é apenas um técnico isento de emoções,
de vontades e de interesses próprios, mas um agente integrante da informação. Para ilustrar alguns aspectos da situação em que vive o rádio brasileiro, cito exemplos de construção de alternativas, privadas, públicas e comunitárias, que surgiram ao longo dos anos. A CBN A CBN, a rádio que toca notícias, que é transmitida em AM e FM, quer provar que rádio não precisa, necessariamente, de ser só musical, basta atentar para uma exigência do mercado, segmentado, e oferecer um serviço especializado. Os efeitos da CBN sobre os ouvintes ainda estão sendo observados e estudados e os resultados comerciais são uma incógnita, pelo menos do ponto de vista do faturamento. As informações que chegam dão conta de que esta rádio é deficitária. A prática tem mostrado que a CBN não mantém seus ouvintes o tempo integral, condição vital para quem vive dos anúncios. É muito comum sua clientela ligar-se também em outras emissoras musicais, destinadas à classe média, universitária, formadora de opinião. Os ouvintes de rádio em seus automóveis estão “zipando” o tempo todo. A programação automática permite que o ouvinte fique transitando de emissora em emissora procurando a programação que melhor lhe atende naquele momento, dada a grande variedade oferecida, cada vez mais segmentada. A tendência mundial é que as rádios se especializem cada vez mais a ponto de ter emissoras que só tocam jazz o dia inteiro. É possível, hoje, ser ouvinte de mais de uma rádio durante o dia. Este comportamento diluiu as preferências no dial e sugere uma imediata mudança nos critérios de avaliação de audiência. De modo geral, a CBN faz sempre um jornalismo que não entra profundamente nos temas, apesar de avançar um pouco em alguns momentos nas coberturas interativas. Cito aqui o caso da queda das bolsas nos países asiáticos e do pacote do governo FHC, em que se concentrou esforços para ouvir o maior número possível de pessoas atingidas direta ou indiretamente pelas notícias. Mas são momentos raros, o normal é a repetição de informações para preencher o enorme tempo de transmissão e o esquema de sempre: a palavra da autoridade em primeiro lugar. Rádios evangélicas As rádios evangélicas estão sendo criadas, aos borbotões, para servir a um público que participa dos denominados “sindicatos de Cristo”. Audiência segmentada e bem definida que busca na programação algo que seja a continuidade daquilo que recebe durante os cultos da Igreja. Ou seja, algum conforto espiritual e estímulo para continuar acreditando que “só Cristo
salva”. Nestas emissoras, prevalece a idéia de que a satisfação espiritual é muito mais importante do que qualquer satisfação material, como se uma fosse dissociada da outra. Como boa parte dos sindicatos tradicionais não conseguem sequer satisfazer as necessidades materiais, o “sindicato de Cristo” assume cada vez mais, nas camadas mais pobres, o papel de provedor de necessidades espirituais. O rádio é um instrumento que amplia o raio de ação das igrejas com muita eficiência. O outro instrumento é a televisão. Por isso, estas emissoras, dizendo-se isentas da política partidária, pregam suas doutrinas religiosas e permanecem fechadas em seus fiéis. Ao contrário do que afirmam os seus pastores e dirigentes, estas rádios influenciam nas escolhas políticas de seus ouvintes em épocas de eleições. É visível o crescimento de deputados evangélicos nos diversos Parlamentos brasileiros. Estas rádios, em geral, não possuem jornalismo e sua rede informativa está restrita ao trabalho religioso. Rádios comunitárias Este sistema democrático em que vivemos há de garantir a existência de emissoras comerciais como a CBN, e as religiosas, mas ele não será perfeito, moderno, ou, pelo menos, próximo do ideal, se não abrir espaço para novas formas de comunicação, ou se não permitir o crescimento das emissoras culturais e comunitárias existentes. O espaço experimental está localizado nas rádios comunitárias, desde que elas sejam plurais quanto a sua programação, se constituam sem fins lucrativos e sejam gerenciadas pela comunidade. Nem sempre elas estão configuradas desta maneira, o que prejudica enormemente o seu papel. Depois de muita luta, prisões e discussão, o Congresso brasileiro aprovou a Lei que regulariza as conhecidas rádios piratas. Apesar de sancionada, esta Lei ainda depende de regulamentação pelo Ministério das Comunicações, por isso mesmo ninguém se arrisca a dizer quando vai estar pronta e em funcionamento. Estes passos legais não eliminam outras preocupações. Muitas destas rádios comunitárias já estão reproduzindo os esquemas das rádios segmentadas, religiosas, politizadas e comerciais. Estas deformações, aliadas à falta de qualificação profissional e o desconhecimento técnico operacional, apontam para um distanciamento das programações criativas e do jornalismo investigativo, cidadão. Neste sentido, papel importante vem desempenhando a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias - Abraço -, que se prepara para montagem de centros de qualificação de mão-de-obra para estas emissoras em todo o Brasil. Rádios Culturais
As rádios culturais no Brasil estão relegadas a um segundo plano absurdo porque o órgão regulamentador do Estado não tem políticas definidas para atuar na área. O resultado são emissoras dispersas, sem contato ou troca de experiências, com grandes desperdícios de recursos humanos e financeiros e poucos resultados objetivos. O SINRED, Sistema Nacional de Rádios Educativas, comandado pela Rádio MEC do Rio de Janeiro, não funciona e nunca funcionou. No SINRED estão as rádios culturais estatais, as fundacionais e as universitárias. Esta organização é meramente burocrática, distante das realidades regionais e incapaz de acompanhar os avanços tecnológicos atuais. Espantosamente, este órgão não está vinculado ao Ministério da Educação, mas sim ao Ministério da Justiça. Estes nichos radiofônicos, criados e mantidos ao longo dos anos a partir do idealismo de Roquete Pinto, que pensava no rádio como uma fonte educativa da população, perderam o sentido. A programação destas emissoras, quase sempre voltadas para a transmissão de música clássica, foi perdendo sua audiência para as emissoras populares, privadas, que faziam e fazem o jogo de sedução do ouvinte despreparado. O que era para ser uma fonte de sabedoria não é ouvido por ninguém. Este modelo de rádio educativa está superado. Algumas experiências isoladas se adaptaram à onda mercadológica, admitiram francamente o chamado “apoio cultural” e vão tocando com relativo sucesso o seu trabalho. Outras, adotaram as “associações de amigos” que, por benevolência de quem gosta da “sua rádio”, supre algumas necessidades materiais. O Estado, por sua vez, se ausentou da responsabilidade de reciclar seus servidores e, até mesmo, de atualizar a tecnologia empregada na radiodifusão. O que se vê agora são emissoras sucateadas, com um bando de funcionários “encostados” sem um projeto claro e objetivo para desenvolverem. Há exceções, mas mesmo assim funcionam com precariedades lastimáveis. O jornalismo nestas emissoras é igualmente nulo, seus jornalistas nadam nas mesmas águas da informação oficial, às vezes, científicas, e ficam por aí mesmo. Uma profunda mudança na forma de gerir as emissoras estatais talvez seja um caminho a percorrer. Só assim será possível alterar a penosa situação das rádios culturais, tanto as pertencentes a governos como às universidades. Uma proposta que circula em Brasília sugere a criação de emissoras públicas, diferente dos regimes estatal e privado. Trata-se da Fundação Brasiliense de Comunicação, uma entidade pública de caráter privado, projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa. Um Conselho Administrativo, composto por representantes da sociedade civil organizada assumiria a gestão da Rádio Cultura FM 100,9, com um plano de ação definido por um contrato, com metas e prazo a serem atingidos. Neste
processo de transição, o Estado deixaria de aportar recursos financeiros à medida que a emissora possa se auto-sustentar. Um experiência A Rádio Cultura FM 100,9, de Brasília, continua estatal mas vem experimentando uma gestão híbrida. Possui um Conselho de Programação com representantes da Universidade de Brasília, da Federação Nacional dos Jornalistas e das secretarias de Cultura, Comunicação e Educação. Funciona em parceria com uma Associação de Amigos que tem viabilizado algumas doações em equipamentos bastante significativas. Com todas as dificuldades que uma emissora como essa tem para se modernizar, com falta de recursos, entraves burocráticos e com uma estrutura que ainda necessita de reparos, a Cultura FM 100,9 apresenta novidades e ousadias importantes. A Cultura FM, que está no ar 24 horas por dia, de segunda a segunda, possui uma programação musical eclética e voltada para um público de 15 aos 35 anos, classe média, estudantes do segundo grau e universitários, profissionais liberais e funcionários públicos e formadores de opinião. Não toca as chamadas músicas “breganeja”, axé music e nem pagode. As músicas regionais de produção alternativa também têm espaço garantido na Cultura FM. Há programas especiais para jazz, blues, lançamento de CD brasileiro, rock nacional e estrangeiro, reggae, a produção nordestina, clássicos eruditos, músicas contemporâneas e eletrônicas. Enfim, uma variedade para todos os gostos. É a única emissora do Distrito Federal que tem um programa semanal dedicado às crianças e às minorias sexuais alternativas. O critério de qualidade é definido pela preferência que é dada à música brasileira, na base de 60% de produção nacional e 40% para a música estrangeira. Dentro destes critérios, é a única rádio que toca Brasília. Mesmo assim, alguns setores dos músicos locais, sobretudo os roqueiros, já que Brasília é vista como a capital do rock, ainda exercem uma salutar pressão para aumentar sua presença na programação da emissora. Os princípios que regem a qualidade são observados pelo Conselho de Programação, como a qualidade sonora das gravações “demo” e das próprias criações musicais. O radiojornalismo da Cultura FM 100,9 é basicamente voltado para a cidade e, especialmente, para a cultura local. A agenda cultural da emissora reflete tudo o que se faz na cidade em termos artísticos e culturais. A política e a economia têm coberturas diárias e todo o material jornalístico é produzido na própria redação pelos seus 12 jornalistas, entre editores, repórteres, apresentadores e redatores. Há debates e entradas ao vivo sempre que o assunto assim exige. A pluralidade é garantida como princípio, todas
as partes envolvidas na notícia são ouvidas, independente de partido, o que dá à emissora a necessária credibilidade. Não se alimenta especulações de espécie alguma e muito menos a notícia sem fonte. A Rádio Cultura FM 100,9 tem 10 anos, mas esta nova experiência vem sendo desenvolvida há apenas três, coincidentemente no Governo Democrático e Popular do professor Cristovam Buarque. Os resultados ainda estão para ser avaliados. Pela ausência de um contrato que garanta o recebimento de pesquisas mensais, a audiência carece de acompanhamento detalhado. No entanto, é possível afirmar que a Cultura FM está entre as dez mais ouvidas de um universo de 16 rádios em Brasília. É uma audiência qualificada e muito fiel. Na 100,9, pode-se dizer que a cultura está em primeiro lugar. Conclusão Agora que estamos nos despedindo do Século XX e do Segundo Milênio, vale à pena nos debruçarmos sobre a experiência de Orson Welles e tirar todo o proveito que pudermos, em todos os sentidos. A criatividade, a ousadia, a técnica e, sobretudo, os aspectos éticos, morais e profissionais de A Guerra dos Mundos são lições que balizam comportamentos em todos os tempos. A Guerra dos Mundos é um fenômeno que precisa ser constantemente estudado, não só para aperfeiçoar as técnicas de análise, mas para dar sentido e conseqüência ao trabalho do rádio como obra de arte. Orson Welles é um acontecimento especial no mundo, desses que dificilmente acontecem mais de uma vez num mesmo século. O fenômeno Orson Welles ainda pode ajudar o radiojornalismo brasileiro a sair desta atual falta de criatividade e se tornar verdadeiramente um dos melhores do mundo, desde que a isto se agregue uma certa dose de autocrítica e aperfeiçoamento dos mecanismos legais. Este papel cabe às Universidades que formam os profissionais da imprensa do futuro.
_____________ Notas: (1) (3) Cantrill, Hadley, in La Invasión desde Marte. (2) Todorov, Tzvetan, in Introdução Literatura Fantástica
16. Haverá uma Guerra dos Mundos na Internet? A hipótese de um Primeiro de Abril na rede mundial de computadores é tão plausível quanto à do trote de Haloween produzido por Welles no rádio. A Internet oferece o campo ideal para performances como a de A Guerra dos Mundos nesta virada do milênio.
por João Batista de Abreu Jr. Jornalista, Mestre em Comunicação e Professor da Universidade Federal Fluminense. Trabalhou em diversas redações de rádio, jornal e TV no Rio de Janeiro.
CENA 1 Dia 30 de março de 1998: Hackers (piratas eletrônicos) conseguiram penetrar nos computadores de defesa do Iraque e desvendaram segredos sobre localização de arsenais de armas químicas de Saddam Hussein. Descobriram também que o Iraque desenvolve uma tecnologia, imune aos programas de anti-vírus, que dissemina vírus pelo mundo através da Internet. O alvo principal são os computadores da Nasa. Algumas horas depois: O Pentágono já está de posse das informações sobre localização de armas químicas, no norte do Iraque, próximo ao Curdistão. A Força Aérea americana está preparando uma operação de raiding, para destruir estes arsenais nas próximas horas. O porta-aviões U.S. Orson, estacionado no Oceano Índico, recebeu instruções para se aproximar do Golfo Pérsico, para dar apoio aos caças F-15 e F-116 envolvidos na operação. Bill Clinton não quer esperar autorização da ONU para o ataque. No dia seguinte: O governo do Iraque está transferindo para outros pontos do país os arsenais de armas químicas, para escapar do bombardeio dos caças americanos. A localização dos arsenais foi obtida por hackers, que entraram nos computadores de defesa do Iraque. Não temos confirmação, mas um internauta de Aman, filho de um general amigo do rei Hussein, disse que os arsenais estão sendo levados para a fronteira com a Jordânia. 24 horas depois: Acabamos de receber a informação de que caças F-15 atacaram um arsenal de armas químicas na fronteira entre a Turquia e o Iraque. O ataque teria destruído dezenas de bombas, mas outras tantas não foram atingidas. Ainda não se sabe se algum avião foi abatido pela bateria antiaérea. Horas depois: Um míssil carregado de armas químicas caiu poucas horas atrás numa zona desértica do Azerbaijão, uma das antigas repúblicas soviéticas. As bactérias mortais estão se propagando rapidamente levadas pelos ventos, no rumo oeste, na direção da Armênia e da Georgia e do Mar Negro, no leste da Europa. Professores de Química da Universidade de Oxford, no Reino Unido, dizem que há risco de as bactérias atingirem a Europa Ocidental. Por enquanto só temos esta informação. CENA 2 Dia 30 de março: Advertência a todos os internautas. Um grupo de hackers ligado a uma ong de defesa da natureza ameaça espalhar um vírus de macro que, uma vez acionado, invade a tela do usuário e paralisa o sistema. O
vírus, batizado de “boto cor-de-rosa”, começará a ser disseminado dentro de 48 horas, emitindo na tela a mensagem “Amazony for all the world”. Os episódios, ambos fictícios, poderiam fazer parte de qualquer brincadeira de adolescentes imaginativos com acesso à Internet. Embora seja impossível calcular a eficácia de informações desta natureza, uma coisa é certa. Como envolve países, instituições, bandeiras e situações verossímeis, a brincadeira de 1º de Abril poderia se irradiar tão rapidamente quanto as bactérias da guerra química, proibida desde a Convenção de Genebra. A principal vítima seria a credibilidade da Internet. Sessenta anos depois, perdemos a dimensão dos efeitos de Guerra dos Mundos entre os ouvintes. Ficaram apenas os relatos de quem viveu aquele momento. John Russel, assessor do governo britânico durante a 2ª Guerra Mundial, afirmou, em entrevista à BBC, que uma noite, ao chegar do trabalho, ligou o rádio para buscar informações sobre o avanço das tropas nazistas e, ao sintonizar uma emissora de Kiev, não acreditou no relato sobre o bombardeio avassalador sobre a capital da Ucrânia. “No começo pensei que fosse mais uma brincadeira como a do Orson Welles”. Pela rapidez de difusão, facilidade de acesso e por atingir os segmentos mais informados da população – as camadas médias intelectualizadas – a Internet oferece o campo ideal para performances como a da Guerra dos Mundos nesta virada do milênio. A rede ainda engatinha como veículo de comunicação e permite qualquer tipo de experiência, independente da finalidade. Este laissez-faire, que muitas vezes descamba para a irresponsabilidade, acaba despertando a sanha daqueles que desejam impor legislações restritivas aos meios de comunicação. O conhecimento adquirido com as viagens interplanetárias e as informações de satélites desestimulam a repetição do tema “invasão de marcianos”, mas o medo do estranho, do desconhecido, permanece no inconsciente coletivo. O fim da Guerra Fria afastou o pesadelo de uma guerra atômica EUA x URSS, que preencheu quilômetros de celulóide nos filmes de espionagem dos anos 60, mas o risco das “ideologias exóticas”, que deram o contorno para o quadro da Guerra Fria no pós-guerra, já aparecia na ameaça dos marcianos. Aqueles seres pequeninos, de cérebros com tentáculos, saltaram das páginas do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H. G. Wells, e invadiram a imaginação radiofônica de Orson Welles. A ameaça vinha de fora e tinha uma cara estranha, como nos quadrinhos de Flash Gordon, o herói da época. Hoje, a bola da vez no noticiário internacional é o presidente (ou ditador, dependendo do ponto de vista) do Iraque, Saddam Hussein, que simboliza o temor do Ocidente de uma nova guerra santa semelhante às Cruzadas. Tio Sam x seguidores de Maomé, ou numa versão religiosa Bíblia
x Corão, compõem o quadro de ameaças que mexe com o imaginário do cidadão comum. Um homem que precisa de ameaças distantes para esquecer aquelas que batem todos os dias à sua porta, como desemprego, violência, poluição, serviços de má qualidade nas áreas de saúde pública e educação. Welles, exímio frasista, gostava de dizer que quando chegava a um país desconhecido e queria saber como ele estava, comprava um jornal e ia direto para as páginas policiais. Cabe aqui uma pergunta: em que seção os jornais noticiariam uma hipotética invasão de marcianos? A Folha de S. Paulo provavelmente optaria pela seção de serviços e a Gazeta Mercantil investigaria a possibilidade de o capital de Marte participar de algum programa de privatização. Seria a apoteose da globalização. Com o passar dos anos, o rádio consolidou-se como o meio de comunicação de massa de maior credibilidade, principalmente entre as populações de baixa renda. No Brasil, dados do IBGE comprovam que o rádio é o segundo utensílio doméstico presente nos domicílios de norte a sul do país. Só perde para o fogão. A expressão “deu no rádio” tornou-se sinônimo de verdade. Numa conversa informal, ninguém duvida quando alguém recorre ao argumento: “eu ouvi, deu no rádio”. Daí ser praticamente impossível avaliarem-se os efeitos hoje de uma experiência semelhante à Guerra dos Mundos numa emissora popular de ondas médias, de preferência no horário matinal. Nos anos 80, a rádio Universidade, da USP, transmitiu um programa num sábado à noite – tradicionalmente um horário de baixa audiência – que anunciava um hipotético desabamento de parte da Serra do Mar sobre o município de Cubatão. A transmissão gerou polêmica e por pouco o Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) não puniu a emissora. Hoje a Internet – que tem origem nos anos 60 como estratégia de defesa desenvolvida no Pentágono – ganha cada vez mais adeptos, semelhante ao rádio nos anos 30. Em pouco tempo, a rede por computador conquistou espaços gigantescos e ganhou vida própria nos cinco continentes. Trocam-se livremente informações, mensagens, dados culturais em tempo real e sem interferência estatal. O verbo “trocar” é fundamental porque expressa a característica interativa do novo veículo de comunicação. Talvez daqui a alguns anos a expressão “deu na Internet”, que atualmente significa “saber primeiro”, “saber quase na hora do acontecimento”, adquira também o sentido de “verdade inquestionável”. Outro ponto em comum entre rádio e Internet é a utilidade pública. No dia 16 de abril deste ano, as televisões exibiram a imagem do menino chinês cuja família não tinha recursos para pagar uma cirurgia delicada a ser feita nos Estados Unidos. Através da Internet, um casal da Califórnia tomou conhecimento do drama daquela família do outro lado do mundo e financiou a viagem e a operação que salvou a vida da criança. O rádio está cheio de exemplos de vidas salvas através da oferta de medicamentos, sangue ou
simplesmente dinheiro. Os radioamadores prestam este serviço há décadas e, até hoje, emissoras de rádio na Amazônia e no Pantanal são os correios das populações ribeirinhas. Comunicam a chegada dos parentes, doenças na família, pedidos de ajuda, enfim realizam muito mais um serviço de utilidade pública do que propriamente entretenimento. A Internet segue uma trilha semelhante com a vantagem de romper as barreiras nacionais, como se fossem emissoras de ondas curtas. Os apelos têm outro feitio, porém a lógica da solidariedade permanece. No entanto quem viaja pelo ciberespaço está sujeito a acidentes de percurso. No dia 1º de abril de 1997, um internauta divulgou uma mensagem sobre um acidente de carro com integrantes do grupo musical Tool, numa turnê na Austrália. “URGENTE: Ainda não temos muitas informações detalhadas sobre um acidente de carro na Austrália; a gravadora não divulgará nenhuma informação sobre as condições dos membros da banda, exceto que pelo menos três deles foram descritos como em estado crítico, e que os shows dos próximos meses foram adiados indefinidamente. Do ponto de vista da BMG, eles supõem que muitos de vocês – e, caramba, eu também – se preocupariam com isso, e provavelmente acessariam esta página procurando informações. Então eles criaram um e-mail que pretendem usar para nos manter atualizados. Não me mandem e-mail sobre isso. EU NÃO SEI nada mais além disso. Vou trazer mais informações assim que possível. Para saber mais sobre o acidente, entre em contato com a BMG.” A única indicação de que se tratava de uma brincadeira era o endereço eletrônico no fim da mensagem: Aprilfools@accident-australia.com. O pedido de desculpas pela brincadeira de Aprilfools (Dia dos Bobos) veio no dia seguinte, gerando respostas iradas e bem-humoradas de gente que embarcou no falso acidente. Se pensarmos que hoje as agências de notícias, rádios e emissoras de TV mantêm-se sintonizadas com a Internet, poderemos imaginar o risco que significa repassar informações desta natureza sem confirmação, pelo simples fato de querer informar na frente dos concorrentes. Esta é uma das questões cruciais sobre a manipulação de uma rede aberta hoje no mundo. A divulgação de um fato pela Internet segue uma escala geométrica, em que cada receptor é um emissor em potencial. Uma viagem sem volta porque, a partir de determinada escala, não é mais possível alcançar o emissor
original. No caso do programa de Welles, a idéia é de que o pânico estaria sob controle uma vez que, supunha-se, o ouvinte ficaria sintonizado até o fim da transmissão. É claro que se trata apenas de uma hipótese. O ouvinte é dono de seu tempo, embora não seja senhor de seu pânico. Numa rede remota, o problema se torna mais complicado. O suposto ataque dos caças americanos ao Iraque ou o vírus “boto cor-de-rosa” são narrativas plenamente factíveis nos tempos atuais e, por isso, tendem a ser aceitas com facilidade. Uma vez repassada, repito, em escala geométrica, a informação pode ganhar uma dimensão incontrolável, que escapa até mesmo ao provedor. Se se tratar de notícia falsa, o desmentido ou correção minutos seguintes não evita que o boato se propague, porque somente os primeiros receptores tiveram acesso à fonte original. A menos que todos na cadeia de informação mantenham o hábito de reproduzir o nome do autor inicial da mensagem, como nas descobertas de botânica e zoologia, em que o nome do primeiro cientista é sempre mencionado. Portanto, mais uma vez a questão está no credenciamento de quem informa, seja instituição ou pessoa física, e na absorção que a mensagem terá por parte do receptor. Não se trata aqui de buscar uma reserva de mercado para os produtores de informação, o que sempre acaba beneficiando as instituições e países poderosos, que dispõem de mais recursos para financiar a atividade; mas entender que o processo de informação exige mecanismos de verificação de fontes e de credibilidade. A editora-adjunta da Editoria Internacional de O Globo, Cláudia Sarmento, afirma que a maior ajuda que a Internet proporciona é a facilidade de acesso a fontes credenciadas, como os sites de universidades no exterior, onde aparecem os nomes dos professores e de sua especialização. “É gente respeitada e que gosta de se comunicar por e-mail”. Fora estas entrevistas, principalmente na área de Ciências, a Internacional e o Segundo Caderno são as editorias de O Globo que mais recorrem à Internet como pauta, ponto de partida da apuração. Um episódio recente serve para comprovar o entrelaçamento entre os jornalismos on-line e impresso. Em janeiro, quando a Newsweek começou a investigar a denúncia de que Monica Lewinsky teria mantido relações sexuais com o clarinetista Bill Clinton, em poucos dias os principais jornais e revistas americanos ficaram sabendo que a concorrente tinha uma bomba nas mãos mas não tinham detalhes. Como a revista decidiu adiar a publicação do escândalo, à espera da confirmação do promotor Kenneth Star, o colunista Matt Drudge, de Los Angeles, dono de uma home-page, também resolveu botar a boca no trombone e contou a história da Newsweek no próprio domingo, citando o semanário como fonte. O próprio Drudge, um colunista de credibilidade discutível, reconhece que somente 80% de suas notas são confiáveis, mas no caso a fonte (embora não autorizada) é uma das duas maiores revistas de informação dos Estados Unidos. É claro que o exemplo alcança muito mais impacto nos Estados Unidos, onde 40 milhões
de pessoas já têm acesso à Internet. No Brasil, este número não chega a 1 milhão, por coincidência o mesmo número de ouvintes que, estima-se, teriam entrado em pânico em 1938 com a transmissão de Guerra dos Mundos pela CBS. Na tese de doutorado A teia invisível – informação e contrainformação nas redes de ongs e movimentos sociais, Sonia Aguiar Lopes observa que instituições privadas, sem fins lucrativos, como o Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais (Ibase) e o Instituto de Estudos da Religião (Iser), surgiram para executar primordialmente atividades de produção e difusão da informação. “Historicamente, essas organizações vêm realizando intenso intercâmbio de informações, em âmbito nacional e internacional, às vezes de modo formal, mas quase sempre de maneira informal, constituindo-se, assim, em nós de uma teia invisível”. Sonia Aguiar lembra que os definidores de “rede” (net) têm-se apropriado de diferentes metáforas que remetem aos conceitos de interrelações, associações encadeadas, interações e vínculos não-hierarquizados. Prevalece a idéia de “rede” como malha entrelaçada repleta de “nós”, ao contrário da imagem de “teia”, que expressa um padrão de relações que se desenvolve radialmente, a partir de uma liderança. Rede também aparece associada à imagem de uma árvore, na qual a informação parte de uma ‘raiz’ e se difunde ou dissemina através de ‘ramos’ ou ramais, isto é, um processo comunicativo que se ramifica até um certo limite (se for podado) ou pode se desdobrar indefinidamente com a agregação de novos participantes (sejam pessoas ou computadores).68 Mas a metáfora que melhor simboliza a multiplicidade e a assimetria da comunicação via Internet, estabelecida a partir de fluxos descentralizados e não regulares de informação (no tempo e no espaço) seria, na visão de Deleuze e Guattari, a do rizoma, um caule geralmente subterrâneo e repleto de nós entrelaçados. Trata-se de um sistema ‘a-centrado’, nos quais a comunicação se dá de um vizinho a outro qualquer, ‘onde as hastes ou canais não preexistem, nos quais os indivíduos são todos intercambiáveis, se definem somente por um estado a tal momento, de tal maneira que as operações locais se coordenam e o resultado final global 68
AGUIAR, Sonia. A teia invisível – informação e contra-informação nas redes de ongs e movimentos sociais. Tese de doutorado em Ciência da Informação/UFRJ, 1996
se sincroniza independentemente de uma instância central’.69 No plano da estratégia militar, a teia invisível da Internet alcança seus objetivos. Em plena Guerra Fria, os idealizadores da rede no Pentágono temiam que um eventual ataque dos inimigos (no caso a União Soviética) cortasse as comunicações nos EUA. Daí a idéia de desenvolver um sistema de tal forma diversificado e multifacetado que mantivesse o controle dos mísseis pelos militares norte-americanos. Preparava-se assim o embrião da resistência. O ataque não veio, a Guerra Fria acabou e a estratégia de guerrilha da informação ganhou vida própria. A palavra “guerrilha” não é pura metáfora. As bandeiras da Frente Zapatista, em Chiapas, uma região paupérrima no sul do México, ganharam o mundo através da Internet, ao denunciar o abandono a que os governos mexicanos sempre relegaram os camponeses de origem indígena de Chiapas. Nesta guerra, um fuzil FAL automático costuma fazer menos estragos do que um 486, com modem. Tanto que, segundo a imprensa mexicana, certa vez ao abandonar às pressas um esconderijo na selva, os zapatistas deixaram algumas armas, mas não abriram mão do computador. Bibliografia AGUIAR, Sonia. Desatando os nós da rede – dicas para você não se enrolar na Internet. Rio de Janeiro, Senac, 1997 ______________. A teia invisível – informação e contra-informação nas redes de ongs e movimentos sociais. Tese de doutorado em Ciência da Informação/UFRJ, 1996 CROOK, Tim. The Psychological Power of Radio (artigo extraído da Internet) PEOPLE’S CENTURY. Série de documentários produzida pela BBC e transmitida pelo canal GNT (sistema Net do Brasil) Site da Universidade de Columbia (www.cjr.org)
69
DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Felix. Introdução: rizoma. Em: Mil platôs; capitalismo e esquizofrenia, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995, Vol. 1