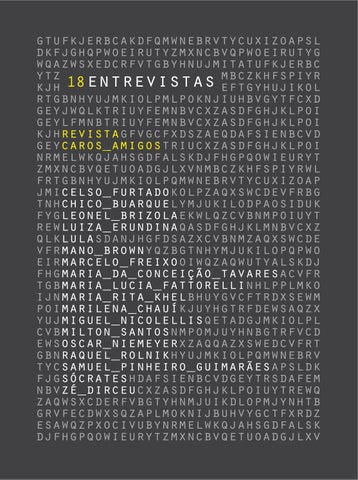\1_
tufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjg rtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytrewq fvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytriuyfemnbvc gtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjg gtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmo frtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytrewq qjahsgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetu gfvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytriuyfemnbvc bgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmo zaqxswcdevfrbgtnhymjukilodpaosidukfygt kqjahsgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetu xzpsdunaherxcalricgflpoiuytrewqlkjhgfd pzaqxswcdevfrbgtnhymjukilodpaosidukfygt eirutyalskdjfhgzmxncbvqszawdxecvfrtgbn cxzpsdunaherxcalricgflpoiuytrewqlkjhgfd xswedcvfrtgbnhyujmkiolplpoikjuyhgtrfde oeirutyalskdjfhgzmxncbvqszawdxecvfrtgbn zxswedcvfrtgbnhyujmkiolpqmwnebrvtycuxi zxswedcvfrtgbnhyujmkiolplpoikjuyhgtrfde zasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhn azxswedcvfrtgbnhyujmkiolpqmwnebrvtycuxi hvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelwkqjahs xzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhn uhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelwkqjahs xvnmbczkhfspiyrwqazwsxedcrfvtgbyhnujmi lxvnmbczkhfspiyrwqazwsxedcrfvtgbyhnujmi ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutyqazxswedc jghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutyqazxswedc zawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrde szawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrde geytrsdafemnbvcxzasdfghjklpoiuytrewqza dgeytrsdafemnbvcxzasdfghjklpoiuytrewqza wxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaqpwoeiru dwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaqpwoeiru qazlkjhgfdsawgetgtufkjerbcakdfqmwnebrv wqazlkjhgfdsawgetgtufkjerbcakdfqmwnebrv oeirutylkjhnfedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokn eirutylkjhnfedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokn rdeftgyhujikolkjhgfvgcfxdszaeqdafsienbc deftgyhujikolkjhgfvgcfxdszaeqdafsienbc skgeqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtb kgeqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtb qzpxocivubynrmelwkqjahsgdfalskdjfhgpqow zpxocivubynrmelwkqjahsgdfalskdjfhgpqow wlsdtgbyhnujmikolpzaqxswcdevfrbgtnhymju lsdtgbyhnujmikolpzaqxswcdevfrbgtnhymju rewqasdfghjklmnbvcxzpsdunaherxcalricgfl ewqasdfghjklmnbvcxzpsdunaherxcalricgfl bgtnhymjukilopqpwoeirutyalskdjfhgzmxncb olpmlpoknjiuhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewq gtnhymjukilopqpwoeirutyalskdjfhgzmxncb jbhvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbv lpmlpoknjiuhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewq hnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij bhvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbv ncbvmkoijnhuygbvftredcxswqazlkjhgfdsawg nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij fjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfed cbvmkoijnhuygbvftredcxswqazlkjhgfdsawg cuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoei jghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfed uhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamn aeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbvcxzasdfghjk uxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoei mjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxr hbvgytfcxdreszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamn uygbvftredcxswqazlkjhgfdsawgetgtufkjerb eqdafsienbcvdgeytrsdafemnbvcxzasdfghjk jynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxr ygbvftredcxswqazlkjhgfdsawgetgtufkjerb
ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfedc qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolkj cxzasdfghjklpoiuytewbyskgeqzaqwsxcderf ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfedcv oknijbuhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmel qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolkjh uoadgjlxvnmbczkhfspiyrwlsdtgbyhnujmiko cxzasdfghjklpoiuytewbyskgeqzaqwsxcderfv oknijbuhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelw thrjekwlqzxcvbnmpoiuytrewqasdfghjklmnb uoadgjlxvnmbczkhfspiyrwlsdtgbyhnujmikol dsazxcvbnmzaqxswcdevfrbgtnhymjukilopqp thrjekwlqzxcvbnmpoiuytrewqasdfghjklmnbv nhyujmkiolpplmkoijnbhuygvcftrdxsewqazq dsazxcvbnmzaqxswcdevfrbgtnhymjukilopqpw ewsaqzxcvbnmpoiklmjuyhnbgtrfvcdewsxzaq nhyujmkiolpplmkoijnbhuygvcftrdxsewqazqa izoapsldkfjghdafsienbcvdgeytrsdafemnbv ewsaqzxcvbnmpoiklmjuyhnbgtrfvcdewsxzaqq nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij izoapsldkfjghdafsienbcvdgeytrsdafemnbvc sgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetuoadg nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijb sgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetuoadgj itatufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldk itatufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkf cvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknjiuhbvgytfcxdr cvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknjiuhbvgytfcxdre eftgyhujikolmknjbhvgcfxdszaeqdafsienbc eftgyhujikolmknjbhvgcfxdszaeqdafsienbcv aqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfe aqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfec utyalskdjfhgzmxncbvmkoijnhuygbvftredcx utyalskdjfhgzmxncbvmkoijnhuygbvftredcxs vtycuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqp vtycuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpw ndeszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsf ndeszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqs cvdgeytriuyfemnbvcxzasdfghjklpoiuytewby cvdgeytriuyfemnbvcxzasdfghjklpoiuytewb bgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaw bgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesa wieurytzmxncbvqetuoadgjlxvnmbczkhfspiyr wieurytzmxncbvqetuoadgjlxvnmbczkhfspiy ukilodpaosidukfygthrjekwlqzxcvbnmpoiuyt ukilodpaosidukfygthrjekwlqzxcvbnmpoiuy lpoiuytrewqlkjhgfdsazxcvbnmzaqxswcdevfr lpoiuytrewqlkjhgfdsazxcvbnmzaqxswcdevf bvqszawdxecvfrtgbnhyujmkiolpplmkoijnbhu qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmkn bvqszawdxecvfrtgbnhyujmkiolpplmkoijnbh vcxzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgty qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmk jbuhvygctfxrdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmx vcxzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgt getgtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldk jbuhvygctfxrdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzm dcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytr getgtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsld irutyqazxswedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknji dcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuyt nbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmknjbhvgcfxdsz klpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlop irutyqazxswedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknj rdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmxncbvmkoijnh nbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmknjbhvgcfxds bcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjghqpwoeir klpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlo rdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmxncbvmkoijn bcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjghqpwoei
PatrocĂnio:
_índice > Apresentação_P.10 > Corações e Mentes_P.12
#01_P.14
#07_P.116
#02_P.28
#08_P.126
#03_P.56
#09_P.136
#04_P.68
#10_P.148
#05_P.82
#11_P.160
#06_P.104
#12_P.184
Celso Furtado
Chico Buarque
Leonel Brizola
Luiza Erundina
Lula
Mano Brown
_08/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Marcelo Freixo
Maria da Conçeição Tavares
Maria Lúcia Fattorelli
Maria Rita Kehl
Marilena Chaui
Miguel Nicolelis
_Expediente EDITOR EXECUTIVO: Aray Nabuco
#13_P.200
Milton Santos
#14_P.220
Oscar Niemeyer
#15_P.234
Raquel Rolnik
EDITORA ASSISTENTE: Nina Fideles REVISÃO DE TEXTO: Luciano Gaubatz CONSULTOR EDITORIAL: José Arbex Jr. MARKETING: André Hermann (Diretor) Pedro Nabuco de Araújo (Gerente) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Cecília Figueira de Mello ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Lúcia Benito Ricco CONTROLE DE PROCESSOS: Wanderley Alves e Douglas Jerônimo ASSESSORIA JURÍDICA: Aton Fon Filho, Juvelino Strovake, Susana Paim Figueiredo, Luiz S. X. Soares de Mello, Eduardo Gutierrez; Pillon e Pillon Advogados REPRESENTANTE DE PUBLICIDADE: BRASÍLIA: Joaquim Barroncas (61) 9115-3659. ENTREVISTADORES: Ana Maria Straube, Ana Miranda, Andrea Dip, Aray Nabuco, Aziz Ab’Saber, Bárbara Mengardo, Camila Martins, Carlos Azevedo, Carlos Tranjan, Cecília Luedemann, Claudius, Débora Prado, Fernando do Valle, Ferréz, Francisco Alembert, Georges Bourdoukan, Gershon Knispel, Gilberto Felisberto Vasconcellos, Hamilton Octavio de Souza, João de Barros, João Noro, João Pedro Stedile, Johnny, José Arbex Jr., Juliana Ennes, Laís da Costa Manso, Leandro Uchoas, Léo Arcoverde, Leo Gilson Ribeiro, Luana Schabib, Lúcia Rodrigues, Marcelo Salles, Márcio Carvalho, Marco Frenette, Marcos Zibordi, Marina Amaral, Michaella Pivetti, Moriti Neto, Mylton Severiano, Natalia Viana, Nina Fideles, Otávio Nagoya, Paula Salati, Plínio Marcos, Plínio Sampaio Jr., Rafic Farah, Raquel Junia, Regina Echeverria, Roberto Freire, Ricardo Kotscho, Roberto Manera, Sérgio de Souza, Sérgio Kalili, Sérgio Pinto de Almeida, Tatiana Merlino, Thiago Domenici, Verena Glass, Vinícius Souto, Wagner Nabuco, Walter Firmo. DIRETOR GERAL: WAGNER NABUCO DE ARAÚJO
#16_P.250
Samuel Pinheiro Guimarães
#17_P.266 Sócrates
É uma publicação mensal da Editora Caros Amigos Ltda. Registro nº 1176000, no 9º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Distribuída com exclusividade no Brasil pela DINAP S/A - Distribuidora Nacional de Publicações, São Paulo. REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Rua Diana, 377, CEP 05019-000, São Paulo/SP Telefone (11) 3123-6600; 0800.777.6601 (Assinatura) E-mails: atendimento@carosamigos.com.br (Jornalismo) marketing@carosamigos.com.br (Publicidade) atendimento@carosamigos.com.br (Assinantes) PRODUÇÃO EDITORIAL: LETTERA COMUNICAÇÃO
#18_P.288 Zé Dirceu
Coordenação Geral: Anaí Nabuco de Araújo Coordenação Executiva: Lucien Luiz Textos Biográficos: Adriana Villar Revisão: Maira Cibele Miranda dos Santos Projeto Gráfico E Direção De Arte: Gustavo Domingues
\09_
_10/
18 entrevistas _ revista caros amigos
_Uma cara história O projeto da Caros Amigos começou com um grupo de amigos, que incluía jornalistas, publicitários, profissionais liberais, profissionais da comunicação. Entre eles estavam Roberto Freire, José Carlos Marão, Alberto Dines, Juca Kfouri, Francisco Vasconcellos, Adriana Cury, João de Barros, João Noro, José Trajano, Oscar Colucci, Bia Toledo, Sérgio Pinto de Almeida, Colibri e Jorge Brolio. Sob a liderança de Sérgio de Souza, eles discutiam como criar um veículo que se contrapusesse ao jornalismo predominante. Buscavam um conteúdo mais questionador, mais crítico e progressista. Queriam a volta do texto de qualidade e o cultivo dos aspectos artísticos da forma gráfica da revista, em uma época em que a mídia grande promovia o modelo da revista alemã Focus e do jornal americano USA Today, com seus textos curtos e suas ilustrações cheias de cores e vazias de ideias. Com esse objetivo, a revista Caros Amigos foi lançada em abril de 1997 trazendo Juca Kfouri na entrevista de capa. Êxito nas bancas, a revista, porém, não tinha assinaturas e anúncios. Por isso, ainda no primeiro mês, a jornalista Marina Amaral, colaboradora da revista, convidou Wagner Nabuco, que havia sido diretor de marketing da revista Veja, e de outras publicações da editora Abril, e tinha o sonho de fundar uma publicação para reunir-se com Sérgio de Souza e João Noro, sócios e principais responsáveis pela execução desse novo projeto. Eles acertaram com Wagner Nabuco sua entrada como sócio, efetivada em outubro de 1997.
A revista cresceu, incorporou vários articulistas e jornalistas e se tornou referência de publicação contra-hegemônica, alternativa e de reflexão crítica do pensamento neoliberal. Desde a morte de Sérgio de Souza, em março de 2008, Wagner Nabuco assumiu a direção-geral da Caros Amigos. A revista procura praticar um jornalismo independente, crítico e comprometido com a transformação da sociedade brasileira. Esta postura rendeu inúmeras premiações, as quais podem ser conferidas na página 306. Para publicar obras de referências, livros e prestar serviços editoriais foi criada mais uma editora, a editora Caros Amigos, que tem em seu acervo as coleções encadernadas Ditadura Militar, Negros, Rebeldes Brasileiros I e II, Grandes Cientistas Brasileiros e Revoltas Populares. Além disso, essa editora conta com mais de 60 títulos de livros como Shownarlismo e O Jornalismo Canalha, de José Arbex Jr., Esporte Mata, de José Róiz, A Incrível e Fascinante História do Capitão Mouro, de Georges Bourdoukan, Socialismo: Uma Utopia Cristã, de Luiz Francisco F. de Souza, Você e a Constituição, de Liliana Iacocca e A Salvação da Lavoura, de Gilberto Felisberto Vasconcellos, O Campo no Século XXI, de Ariovaldo U. de Oliveira e Marta Inez M. Marques, e Rompendo a Cerca – A História do MST, de Sue Branford e Jan Rocha, além da série de livros do autor Emiliano José “Galeria F”, que lançará seu quinto volume.
\11_
_Corações e mentes Ao longo da história, desde a Grécia Antiga, os poderosos sempre dominaram a informação, ou melhor, uma versão dos fatos, e particularmente, a comunicação de massa.Até hoje, falar em mídia é falar em poder. Um poder tão expressivo, que o resultado é um monopólio concentrado nas mãos de duas dezenas de conglomerados que veiculam dois terços das informações e dos conteúdos culturais disponíveis no planeta, segundo o professor e pesquisador Denis de Moraes. A humanidade é refém destes monopólios, que defendem de forma explícita ou subliminar, os interesses das corporações capitalistas e das potências imperialistas.Segundo relatório de Comissão Especial da ONU, 85% das notícias que circulam no planeta são geradas nos EUA. É praticamente uma única versão da informação, um único ponto de vista, uma única história. A monopolização é também velha conhecida nossa,respaldada pela ausência de uma legislação que normatize o setor. O exemplo mais gritante é o da propriedade cruzada (posse simultânea de vários veículos, como jornais, rádio, televisão). Nos EUA, meca do capitalismo liberal, as regras que limitam a concentração existem desde 1943. Aqui nunca existiram. Dos anos 30, início da regulação da radiodifusão, até a Constituição de 1988, que fixou normas para evitar a concentração em seu capítulo V (ART. 220 a 224), nunca regulamentadas, o monopólio ficou fora da pauta no Brasil. Levantamento do Epcom (Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação) mostra que, de 1990 a 2002, o número de grupos que contro-
_12/
18 entrevistas _ revista caros amigos
lam a mídia no Brasil caiu de nove para seis. Hoje temos: Marinho (Globo), Abravanel (SBT), Saad (Bandeirantes), Civita (Abril), Mesquita (Estado), Frias (Folha), além de alguns grupos regionais, associados aos grandes nacionais, como Sirotsky (RBS), que atua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Um olhar para os números da audiência e da publicidade não deixa dúvida da hegemonia: segundo artigo do Coletivo Brasil de Comunicação Social – Intervozes, em 2009, a soma da participação das quatro primeiras emissoras de TV, todas privadas e comerciais, alcança audiência de 83,3% e participação publicitária de 97,2%.É neste cenário paradisíaco, de valores inflados e números superlativos, que dorme a grande mídia nacional desde sempre. Dividindo o mesmo território, mas legada a um pedaço de chão bem menor e mais árido, temos a mídia contra-hegemônica, que trava uma batalha heroica com poucos recursos financeiros e falta de apoio do Estado, de qualquer governo. Hoje representada por publicações impressas, como a Caros Amigos, a Carta Capital, o Brasil de Fato, Le Monde Diplomatique, Brasileiros, Cult, além de pequenos meios da mídia alternativa, comunitária, sindical; e na internet, pela chamada blogosfera progressista,que ganha importância pela crescente influência do meio. É uma guerra desigual. E como tal, cada batalha tem suma importância. Como defende o presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, o tema mídia é decisivo e estratégico. “...Não vamos
avançar na democracia se não enfrentarmos esse tema.” Não à toa, a imprensa é chamada de o quarto poder.Para o jornalista Paulo Henrique Amorim, autor do livro O Quarto Poder - Uma Outra História, um poder que, em sua mais recente investida, a partir das eleições presidenciais de 2014, se revelou de forma acintosa nos principais veículos dos grandes conglomerados da mídia nacional, "a mais feroz campanha de ódio da história da República, desde a que resultou no tiro no peito de Vargas”, em agosto de 1954. A mudança passa pela formulação e aprovação de uma lei de meios que democratize as concessões e a distribuição da verba publicitária, evitando o monopólio no setor. Tal como a aprovada na Argentina (Ley de Medios); além de outros exemplos, em países latinos, União Europeia e Estados Unidos. À mídia contra-hegemônica cabe confrontar o atual cenário das comunicações, assumir a contenda pelo discurso como parte das legítimas disputas nos cenários social, político e econômico, com um jornalismo de qualidade, abrangente e horizontal, comprometido com o aprofundamento das vivências democráticas e do Estado de direito. É ser o ponto fora da curva. A Caros Amigos, com apoio de seus milhares de leitores por todo o Brasil, e dos muitos amigos colaboradores, está há quase duas décadas nesta posição.
“Notícia é tudo aquilo que alguém não quer que seja publicado. Todo o resto é propaganda.” Katharine Graham, jornalista e editora do jornal Washington Post.
“Não se preocupem. Não queremos controlar o mundo. Só queremos um pedaço dele”. Rupert Murdoch, dono do império midiático News Corporation, presente em 133 países.
“Como são as conta, histórias realmente
contadas, quem quando e quantas são contadas, tudo depende do poder”.
Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana
“Os fatos cederam lugar a declarações de “personalidades autorizadas”, que não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem imediatamente em propaganda.” Marilena Chauí, filosofa, em Simulacro e Poder: uma análise da mídia, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.
\13_
_14/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#01_ Celso Furtado _
Fevereiro de 2003
Ouçam esta voz Nascido em 1920 no sertão paraibano, Celso Furtado via pelas frestas da janela a chegada dos cangaceiros. Nas memórias de infância, ficou gravada também a passagem da Coluna Prestes, em 1924. “Eu venho de um mundo que me parecia catastrófico. Região seca, de homens secos.” No exato dia em que completava 10 anos, já na Cidade da Paraíba, a capital, testemunhou outro capítulo da história, o assassinato de João Pessoa. “As empregadas da casa me levaram às manifestações, que mostravam a revolta contida do povo.” Furtado tornou-se um dos mais influentes pensadores do país e profundo estudioso do subdesenvolvimento. Na Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), participou do estudo que seria a base do plano de Juscelino Kubitschek, a pedido de quem criou a Sudene. Os “cepalinos”se baseavam na ideia de que essa condição não era etapa para o desenvolvimento, mas um processo estrutural histórico que levava à dominância de países “centrais”(industrializados) sobre os “periféricos” (de base agrícola). A industrialização, com papel ativo do Estado, era o caminho, acreditavam, para mudar essa relação. Para Furtado, a intensa renovação do pensamento nacional nos anos 50 e a perspectiva do salto que levaria o país à autonomia, “veio abaixo” em 1964. No início dos anos 2000, considerava o social o “primeiro desafio” e via em Lula a oportunidade de transformação.
O economista Celso Monteiro Furtado nasceu em 26 de julho de 1920 em Pombal (PB) e morreu noRio de Janeiro em 20 de novembro de 2004. Um dos pensadores do Cepal que trabalharam no Plano de Metas de JK, criou a Sudene e foi o primeiro ministro do Planejamento do Brasil, no governo João Goulart. Cassado pelo AI-5 e exilado na França, se tornou professor da Sorbonne. Em 1981, se filiou ao PMDB. Foi embaixador, ministro da Cultura no governo Sarney e ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. ENTREVISTADORES João Pedro Stedile Plínio Sampaio Jr. José Arbex Jr.
Um homem que acreditava, sobretudo, na autodeterminação para a construção como nação e que, aos 84 anos, morreu acreditando, com otimismo, em um Brasil plenamente desenvolvido.
\15_
#01_ Celso Furtado
JOÃO PEDRO STEDILE - Na sua opinião, quais são os problemas fundamentais da sociedade brasileira atual? O primeiro desafio é dar prioridade ao problema social e não ao problema econômico. Os economistas dominaram completamente esse primeiro debate e, se você olha somente para o lado econômico, pode cair nesse círculo vicioso em que o governo anterior se meteu, porque, no sistema mundial econômico, a posição do Brasil é demasiado subordinada. Isso faz com que seja muito difícil propor uma estratégia, por exemplo, quando se diz “em qual direção vamos agora?”. “Que espaço temos para agir?” – essa é a dúvida maior. O Brasil foi arrastado a uma situação de dependência que se consumará de vez se for levada adiante essa ideia esdrúxula de integrar este país à famosa Alca. A Alca é realmente o fim da soberania do Brasil e, se o Brasil perde a soberania, não tem mais política própria e, portanto, não tem mais destino próprio, será um joguete de forças maiores e, provavelmente, tenderá a se desmembrar. O que está em jogo é o futuro do Brasil. JOÃO PEDRO STEDILE - Por que o senhor diz que o problema social é maior do que o econômico? Então, no econômico não temos problema? Bem, os problemas econômicos são problemas que os economistas sabem formular mais ou menos, não é? Se bem que tropecem com essa ideia de que os problemas econômicos são macro ou micro, e eles raciocinam em termos de micro e aplicam em termos de macro, o que faz com que seja tão difícil depois sair das enrascadas em que nos metemos. Mas não creio que seja somente isso. É que o Brasil investiu muito e criou um sistema industrial dos mais poderosos do mundo, sendo hoje uma economia que pesa no sistema de decisões. Por outro lado, o Brasil tem graves limitações. A capacidade de se autodirigir, de criar o seu próprio destino é muito limitada, e isso tem
_16/
18 entrevistas _ revista caros amigos
a ver com o social e não com o econômico. Se o Brasil partir da identificação dos problemas sociais, conseguirá criar um tipo de opinião pública como essa que se manifestou agora na eleição de Lula. De tudo isso, o mais importante é a diferença que há nesse movimento de hoje em dia, que é de raiz popular, de raiz social, que partiu para a investigação dos problemas sociais e não dos problemas econômicos. Portanto, acho que se ganha uma parte da batalha se for priorizado o problema social. Isso eu compreendo que é um pouco a estratégia de Lula. Colocando o problema social, ele vai criar um tipo de opinião pública cada vez mais democrática, de raiz popular, e essa opinião pública de raiz democrática é que vai permitir consolidar esse próximo momento, e você vai ter finalmente a transformação do Brasil partindo do social e não do econômico. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor é considerado o mestre de todos os economistas e dos brasileiros que sonhavam com um projeto nacional. Hoje, um projeto nacional que contornos teria? Primeiramente, teríamos de discutir, identificar o espaço que existe para um projeto nacional, nessa direção, porque não basta falar em projeto nacional, é preciso saber aonde se quer chegar. Quando você olha o problema de perto e vê, por exemplo, que o problema do Banco Central é esse drama que estamos vivendo, que se entrega ao grande capital internacional, quando todo mundo sabe que isso é uma aventura que vai levar a vários impasses, percebe-se que ainda não está explícito o itinerário que o Brasil pretende seguir em seu projeto nacional. O problema brasileiro não é econômico. Se fosse, você ficaria amarrado para resolver o problema a partir do Banco Central. O problema é social, você deve partir da mobilização das forças sociais, da identificação dos problemas que afligem a população: em primeiro lugar, o sofrimento enorme
O problema brasileiro não é econômico. Se fosse, você ficaria amarrado para resolver o problema a partir do Banco Central. O problema é social, você deve partir da mobilização das forças sociais, da identificação dos problemas que afligem a população: em primeiro lugar, o sofrimento enorme desses milhões de pessoas que passam fome. Esse é o maior drama da sociedade brasileira, que se tentou ocultar por tanto tempo, até o dia em que se descobriu que “oh, são mais de 50 milhões que não ganham o suficiente para matar a fome”. A verdade é que a gente vai vendo que o Brasil é um país de construção imperfeita, e hoje está desconchavado, desmantelado, porque a capacidade de comando que tínhamos sobre a economia, mesmo limitada, atualmente é muito menor.
desses milhões de pessoas que passam fome. Esse é o maior drama da sociedade brasileira, que se tentou ocultar por tanto tempo, até o dia em que se descobriu que “oh, são mais de 50 milhões que não ganham o suficiente para matar a fome”. A verdade é que a gente vai vendo que o Brasil é um país de construção imperfeita, e hoje está desconchavado, desmantelado, porque a capacidade de comando que tínhamos sobre a economia, mesmo limitada, atualmente é muito menor. Você encontra qualquer economista estrangeiro que estuda o Brasil, ele quer saber sobre a balança de pagamentos. E você vai identificar o quê de importante no caso? A imensa dívida externa, que tem de ser paga. Essa dívida, comparada com a de outros países, não é tão grande, ela é grande em relação à capacidade do Brasil de servi-la, que é muito limitada... JOÃO PEDRO STEDILE - Ela engessa nossa economia... Engessa, e a possibilidade de se autogovernar se reduz. Você só pode mudar esse quadro mudando o projeto social, o estilo de desenvolvimento do Brasil, e isso é o que eu imagino que a geração nova fará. Creio que as pessoas já estão compreendendo. Essa eleição foi um alerta para mostrar que já tem muita gente convencida de que o Brasil tem de se reconstruir, ter um sistema de decisões, levar adiante uma estratégia política muito diferente da que teve no passado. Mas, para isso, o Brasil precisa de um governo que estabeleça outra relação com a sociedade. Eu fico pensando o que foi que levou o país a essa situação. Então, me recordo que, na época em que tive alguma importância no país, quando escrevia e era muito lido, particularmente nos anos 50, quando publiquei Formação Econômica do Brasil – e que muita gente “descobriu” o Brasil lendo aquilo –, tínhamos a ideia de que, se o país conseguisse atingir certo grau de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico propriamente
\17_
#01_ Celso Furtado
dito, um certo nível de desenvolvimento, ganharia autonomia. Daria um salto enorme, que significa sair de uma economia de dependência econômica para uma autêntica independência. Era nada menos do que isso que estava em jogo. E eu escrevi sobre isso, e disse que estávamos nas vésperas de dar esse salto. Foi nos anos 50, quando houve o debate sobre Brasília etc. Na verdade, houve uma tomada de consciência, de um lado e de outro, e o Brasil viveu o seu período mais intenso de construção política, de renovação do pensamento. Para mim, a história do Brasil tem um período extraordinariamente significativo, esse período que vai do fim do primeiro governo de Vargas até o começo da ditadura militar, cerca de 20 anos. Foi uma ebulição política na qual todas as ideias vieram a debate, descobrimos tudo, tudo veio à tona, e foi um entusiasmo muito grande. Pelo Brasil afora, fui paraninfo de dezenas de turmas de estudantes... Era uma coisa empolgante, o país se industrializando, se transformando, incorporando massas de população à sociedade moderna. E isso tudo veio abaixo. E não veio abaixo porque a economia brasileira deixou de crescer, ao contrário, houve anos em que o Brasil cresceu mais ainda, mas veio abaixo porque mudou o estilo de desenvolvimento e desapareceram as forças sociais que estavam presentes antes. Antes de 1964, houve uma enorme confrontação de forças sociais, era aquele caldeirão, que causou tanto medo na grande burguesia e nos americanos... Os Estados Unidos se apavoraram com o rumo que vínhamos tomando; essa fase se encerrou e entramos – como alguém disse – na paz dos cemitérios, foi a época da ditadura. Passaram-se 30 anos sem se poder pensar propriamente, ou sem poder participar de movimentos, a juventude mais agressiva e mais corajosa sendo perseguida. Desmantelou-se o processo de construção do Brasil. E aquele ganho formidável alcançado no período anterior se perdeu, porque o Brasil foi recomeçar uma vida política extre-
_18/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Para mim, a história do Brasil tem um período extraordinariamente significativo, esse período que vai do fim do primeiro governo de Vargas até o começo da ditadura militar, cerca de 20 anos. Foi uma ebulição política na qual todas as ideias vieram a debate, descobrimos tudo, tudo veio à tona, e foi um entusiasmo muito grande.
mamente primitiva, o parlamento que foi eleito na ditadura era de uma mediocridade enorme. E o pior é que não foi possível abrir um debate sobre nada importante, porque toda a imprensa já estava controlada, tudo aferrolhado, a juventude estava desmobilizada, era outro país. Hoje eu me pergunto: o que fazer para tirar o Brasil desse marasmo? Ele começou a sair dele agora, com essa promessa de que haverá um país pensando nos seus problemas reais, nos seus problemas sociais. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor acabou de nos explicar historicamente o papel que teve a ditadura militar de interromper o nosso projeto de desenvolvimento. Qual é a sua avaliação dos dez anos de neoliberalismo de Collor e Fernando Henrique?
O resultado foi muito pobre. Uma coisa penosa dizer isso, porque sou amigo de Fernando Henrique e fui ministro de Sarney. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Qual é o papel que o senhor vê da intelectualidade na crítica ao neoliberalismo e na capacidade de abrir novos horizontes? Há bastante reflexão no Brasil sobre esses problemas. Você chega numa universidade e é logo convidado para fazer um debate com os estudantes. E eles todos estão mobilizados e preocupados em entender os problemas. Mas não há propriamente repercussão. Essa reflexão não se desdobra em ações. Hoje em dia, há uma distância muito grande entre o que se faz na universidade, que fica num plano elitista, e o que se faz na sociedade. Na minha época, havia uma consciência de que o que você estava fazendo era importante. JOÃO PEDRO STEDILE - Para o país? Para o país. E essa consciência eu tinha para mim. Me recordo que quando escrevi aquele livrinho, A Pré-Revolução Brasileira, ô repercussão que teve, puxa! PLÍNIO SAMPAIO JR. - Havia um diálogo entre os intelectuais, um debate de posições. Isso é que falta hoje, um debate mais geral sobre o desenvolvimento brasileiro... Também é o seguinte, vou dizer uma coisa como economista. Existe hoje em dia uma espécie de esterilização do debate econômico. Aí, “a economia passou a ser muito importante”, “não é para estar sendo discutida por qualquer pessoa”, e o resultado é que ela se tornou uma área estéril. Você não tem ninguém pensando coisas originais em matéria de economia no Brasil. E, se na universidade existe gente produzindo coisa original em matéria de economia, a sociedade não toma conhecimento, porque falta esse intercâmbio entre a reflexão acadêmica e a sociedade real.
JOÃO PEDRO STEDILE - Só se copia... Só. Uma coisa ou outra se diz de interessante, mas há uma pobreza muito grande no debate sobre a questão econômica, na abordagem de problemas econômicos e sociais, naturalmente. Agora, os problemas sociais estão aflorando antes dos econômicos, e a gente sente que a ação dos sem-terra no campo, assim como a de outros movimentos sociais, tem sido muito importante desse ponto de vista. É preciso que o povo identifique os seus problemas e saiba que a política não é um jogo de elites. Política é uma disputa pelo poder real, e sem poder real não se faz nada para resolver tais problemas. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Na universidade, a gente escuta muito que a reforma agrária é uma coisa importante, mas é uma política, digamos, compensatória, secundária. Qual a importância da reforma agrária para a construção da nação, para o desenvolvimento nacional? Houve uma mudança muito grande nesse aspecto, porque a pura verdade é que a agricultura era a grande criadora de emprego no passado. Hoje não é mais. Nem no Brasil nem em nenhuma parte do mundo. No Brasil, nos últimos três anos, cinco milhões de pessoas saíram do campo, o que mostra que o campo não cria emprego nesse modelo. O capitalismo que se instalou no campo dominou completamente a agricultura brasileira. Não temos mais aquela agricultura mista, que criava emprego. E você tem de enfrentar esse problema da criação de emprego, que é o problema brasileiro mais importante: a agricultura se mecanizou, se transformou e houve toda essa modernização etc. E, por outro lado, você vê que a sociedade civil se interessa menos por esse assunto. Quero dizer o seguinte: você tem hoje um mundo muito menos mobilizado efetivamente para as lutas desse tipo. Na minha época, você tocava nesse assunto e inflamava. Mas havia uma diferença:
\19_
#01_ Celso Furtado
a agricultura era muito importante, por outras razões, e você não tinha a possibilidade como tem hoje de dispensar os trabalhadores. Por isso, os trabalhadores significavam uma massa de poder. Você viu o que fez Francisco Julião no Nordeste: mexendo no campo, foi possível trabalhar num terreno novo. Agora, veja, hoje em dia, a agricultura só cria desemprego. Por seu lado, o mundo urbano também não cria emprego, ou cria muito pouco. Você tem, então, um impasse completo, uma crise profunda que se apresenta essencialmente como uma crise social, não uma crise econômica. Do ponto de vista econômico, a agricultura está bastante bem, os setores urbanos organizados vão se equilibrando, mas ao mesmo tempo você tem uma degradação de toda essa parcela da sociedade que vive na beira das estradas e, particularmente, essa coisa de dormir debaixo das pontes. É uma coisa vergonhosa! Uma sociedade não ter resposta para uma pessoa angustiada que não tem onde dormir... Saiu de onde? Do campo, onde ainda conseguia algum trabalho, para ir para a cidade não fazer nada, entrar em degradação, cair na marginalidade, alimentar esses canais da exclusão. A doença brasileira é muito grave, mas é social, pois deriva da incapacidade de adaptar sua população às tecnologias modernas a fim de continuarmos avançando economicamente – a própria economia está bloqueada, a economia brasileira está crescendo um por cento ao ano, quando a população cresce a dois por cento, ou quase. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Como criar emprego hoje na cidade? Na verdade, trata-se de saber que possibilidades existem de criar emprego. Porque a atual sociedade brasileira cria emprego de baixíssima produtividade e que não permite sobreviver, subsistir. Já trabalhei sobre isso e penso o seguinte: o Brasil terá de pensar numa sociedade
_20/
18 entrevistas _ revista caros amigos
diferente, em empregos diferentes. Por exemplo, por que não fixar muito mais população no campo e criar emprego industrial no campo? JOÃO PEDRO STEDILE - Criar agroindústria. Interiorizar a indústria... Tem de começar por isso. Se você interiorizar a indústria, reforça o sistema econômico do país, em vez de fragilizá-lo. Não é criar emprego por criar simplesmente, sem nenhum sentido econômico. Não se pode perder de vista que a economia tem suas exigências, e você, portanto, não pode pensar em criar emprego de qualquer forma, como muita gente pensa. Veja, por exemplo, lá no interior do Nordeste, onde hoje tem tanta gente desempregada, mas vivendo com uma pequena subvenção. Instala-se, assim, uma cultura da miséria, da mendicância, da semimiséria. E isso é um crime num país tão rico, com tanto potencial, com tanta terra, mas onde não se planta. E como transformar a agricultura numa agricultura viável para uma sociedade com uma demanda diferente? Esse é o desafio. Portanto, seria necessário que um movimento como o dos sem-terra gerasse uma força de transformação da economia rural – não é somente dizer “vou fazer isso e aquilo, fazer greve”, mas ter um programa de transformação do mundo rural, porque o Brasil tem enorme potencial nessa área. Não é um país qualquer. Tem um potencial importante; se investir no campo com critério e habilidade, pode criar manchas novas na economia moderna no Brasil, de um tipo novo. Eu vi muito em alguns países do norte da Europa como o mundo rural sobrevive. Não é propriamente uma economia “primária”, pois ali se criam milhares de empregos nos setores secundário e terciário, como a agroindústria, o turismo rural etc. Nessa criação de empregos no campo, o Estado tem de estar muito presente. Agora, no Brasil, porque 30 e poucos por cento do setor de serviços são controlados pelo Esta-
do, já se diz que é um mal muito grande. Não há mal nenhum. A televisão está aí, Boris Casoy fazendo discurso: “É um absurdo! Manter essa gente lutando por falsos empregos etc.; e o dinheiro que vai para essa gente sai de onde? Sai do meu bolso, do seu!”. Não é nada disso. A verdade é que o PIB brasileiro tem um bloco importante administrado pelo Estado. Esse bloco dá lugar a muitas discussões, há muita gente pondo em dúvida a lisura da administração. O que até posso entender, pois o Estado não evoluiu no sentido de criar uma economia moderna. Ainda temos, na verdade, uma economia de subsídio, de ajuda. Isso funciona durante algum tempo, mas depois se degrada e você vai ver que aquilo vai começar a definhar, o retorno do investimento no campo começa a definhar. JOSÉ ARBEX JR. - Mas a Alca não seria um bom estímulo para a modernização da economia brasileira? A Alca é a renúncia à soberania nacional. É preciso entender isso. Se há uma coisa à qual você não pode renunciar é a soberania, porque, se você tem um pouco de soberania, como tem o Brasil ainda, pode ter uma política econômica que responda às necessidades e aspirações do povo. Mas, se estiver enquadrado pela Alca, as grandes empresas é que vão traçar a política econômica do Brasil. As grandes empresas, que já são poderosíssimas no Brasil e vão ficar ainda mais poderosas. É o seguinte: a gente tem hoje um setor muito importante de empresas internacionais, que pesam positivamente no PIB brasileiro, como a indústria de automóveis, a de equipamentos etc., mas essas empresas não atendem aos requisitos de prioridade nacional, não atuam a partir de uma visão global da economia brasileira. Elas são comandadas pela racionalidade típica de qualquer empresa: o lucro. O que é racional para a Ford é que, se necessário, ela fecha a
Nessa criação de empregos no campo, o Estado tem de estar muito presente. Agora, no Brasil, porque 30 e poucos por cento do setor de serviços são controlados pelo Estado, já se diz que é um mal muito grande. Não há mal nenhum. A televisão está aí, Boris Casoy fazendo discurso: “É um absurdo! Manter essa gente lutando por falsos empregos etc.; e o dinheiro que vai para essa gente sai de onde? Sai do meu bolso, do seu!”. Não é nada disso. A verdade é que o PIB brasileiro tem um bloco importante administrado pelo Estado. Esse bloco dá lugar a muitas discussões, há muita gente pondo em dúvida a lisura da administração. O que até posso entender, pois o Estado não evoluiu no sentido de criar uma economia moderna.
\21_
#01_ Celso Furtado
fábrica aqui e passa para outro país. Você tem de partir da seguinte questão: somos ou não um sistema econômico? Se somos um sistema econômico, temos uma lógica própria e essa lógica não combina com nenhuma racionalidade internacionalizada. Se você não tem essa autonomia e tiver de se subordinar – o que acontecerá se entrarmos na Alca –, não poderá evitar que as transnacionais decidam por conta própria o que deve ser feito e qual a tecnologia a ser utilizada. A tecnologia do automóvel avançou enormemente, mas avançou de forma completamente negativa para o Brasil porque engendrou o desemprego: o governo brasileiro ajudou, por exemplo, a Ford a se modernizar, a ficar mais eficiente, para exportar mais. Com isso, criou o desemprego. JOÃO PEDRO STEDILE - O neoliberalismo desconstruiu o papel do Estado e transferiu para o mercado. E o mercado é a vontade das grandes empresas. Na sua opinião, no governo Lula, qual será o papel do Estado? Será o que todos nós acreditamos. Lula tem de partir da ideia de que o Brasil é um sistema econômico e, portanto, não deve ser desmantelado nem vendido aos pedaços, e muito menos deixar que o mercado decida o que é bom para uma região sem tomar conhecimento do que ocorre em outra. Isso, para mim, está claro. De toda forma, o Brasil está num processo de desagregação, portanto, o governo de Lula está diante de um grande desafio: como frear essa desagregação. Evidente que o que se está dizendo do governo de Lula, por enquanto, são fantasias. Por exemplo, quando se diz que o Banco Central vai ser privatizado. Ora, o Banco Central é que demarca a política econômica de um país, e como imaginar que uma política econômica pode ser privatizada? É preciso ter muito cuidado com essa questão. O pessoal diz: “Não é privatizar, é ficar independente”. In-
_22/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dependente de quê? Do sistema monetário internacional? Como se isso fosse possível. Você teria de entrar no jogo do sistema monetário internacional e se subordinar a ele, se integrar a ele e renunciar a uma política própria. Não creio que o Brasil aguente isso. Isso criaria tensões sociais de tal ordem que levaria o Brasil a buscar outro rumo. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Agora começam a dizer que existe a Alca ruim e a Alca boa. É possível uma Alca boa? A Alca não pode ser boa, jamais, porque é uma renúncia à soberania. Você tem de partir disso, o mais é detalhe. Há quem retruque: “Não, mas isso pode ser disciplinado, pode ser regulamentado, pode ser evitada uma transformação brutal...”. Tudo pode ser feito, mas nunca se afastando do princípio essencial da Alca. E esse significa o país renunciar a um sistema econômico próprio. Você vai ter atividades econômicas, é claro, mas enquadradas pelo mercado, o mercado é que decide. Você não vê o que acontece? “O mercado decidiu isso...” Ora, o mercado nada mais é do que um grupo de pessoas bem informadas que podem influir em decisões estratégicas. Veja, por exemplo, quando o mercado cortou de forma brutal as linhas de crédito para o Brasil. Bastou uma negociaçãozinha e o mercado voltou atrás, se acomodou, fez algumas concessões. Mas sempre concessões menores. Até hoje, eles não largaram a ideia de ter um controle completo da economia. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Uma de suas grandes lições é como aproveitar o progresso técnico para o desenvolvimento nacional. O senhor estava falando aqui que precisamos ser diferentes, fazer nosso caminho, introduzir o progresso técnico em função das nossas necessidades, das nossas possibilidades. É possível ser diferente na ordem global?
Tudo pode ser feito, mas nunca se afastando do princípio essencial da Alca. E esse significa o país renunciar a um sistema econômico próprio. Você vai ter atividades econômicas, é claro, mas enquadradas pelo mercado, o mercado é que decide. Você não vê o que acontece? “O mercado decidiu isso...” Ora, o mercado nada mais é do que um grupo de pessoas bem informadas que podem influir em decisões estratégicas. Não se trata de ser diferente, trata-se de ser racional. A ordem global é uma coisa, a ordem de cada país é outra. Queiramos ou não, haverá uma ordem para cada país. Agora, essa ordem será administrada como? Internamente ou virá tudo programado de fora? O pessoal fica dizendo: “O Brasil não pode ser diferente dos outros”. Ora, todos os países são diferentes. Não há país que não seja diferente. Começa pelos Estados Unidos. Veja o cuidado que eles têm em proteger suas indústrias. Ou, então, um país da Europa, hoje em dia integrado num grande mercado comum: todos eles têm muito cuidado antes de tomar qualquer medida. Se agora estão muito preocupados com as medidas tomadas no passado, é justamente porque as consequências sociais em cada país são diferentes. Portanto, não se pode dizer, no caso da Alca, que todos os países serão iguais. O Brasil tem, como os outros, características próprias. É um país com uma grande massa de subemprego, um enorme potencial de recursos naturais não utilizados, um
Estado com certa tradição de exercer o poder, portanto, é necessariamente diferente de outros da América Latina. Dadas essas circunstâncias, esses fatos concretos, cabe-nos definir um rumo para o nosso país. JOÃO PEDRO STEDILE - Tem muita gente dizendo que a solução para o Brasil é exportar. Qual é a sua opinião? Isso é outra piada boa. Na verdade, o que eles querem dizer é que essa é uma forma de criar emprego. É o lado positivo da afirmação. Agora, privilegiar a exportação é uma forma também de favorecer os capitais estrangeiros. Por exemplo, o forte aumento das exportações brasileiras beneficiou, e muito, o capital estrangeiro que está no país, o que levou a uma espécie de alívio da situação cambial. É preciso reconhecer que o país tem também uma grande dívida interna, o que faz com que cada empresa credora interfira na administração dessa dívida. O pessoal do Banco Central, por certo, tem consciência disso e faz um bom trabalho. Mas é outra coisa imaginar que pode haver fórmulas simples para resolver esses problemas. Não creio. JOÃO PEDRO STEDILE - Qual a sua opinião sobre a OMC? A Organização Mundial do Comércio é importante. Não se pode imaginar que o mundo caminhe senão no sentido de desenvolver formas de cooperação. Agora, esse é um avanço que deve se dar no âmbito das Nações Unidas em primeiro lugar. Por muito tempo, não foi possível criar essa organização porque os americanos imaginavam que iriam ser tutelados. E, finalmente, conseguiu-se vencer esse obstáculo. Mas, até hoje, essa organização é muito conflitiva, há grandes interesses contraditórios dentro dela. É evidente que muitos países não querem ceder a autonomia de decisão que têm hoje. O próprio Brasil resiste. Mas, ao mesmo tempo, quer avançar em
\23_
#01_ Celso Furtado
certas áreas que seriam importantes. Você tem essa situação curiosa de cada país precisando avançar e recuar, fazer concessões. Agora, qual será a evolução em longo prazo? Para mim, está claro que a OMC se baseia no princípio de que no futuro distante, muito distante, haverá uma economia de mercado plena, haverá uma integração completa dos mercados. Tenho minhas dúvidas se esse futuro chegará algum dia. Mais provavelmente vamos prosseguir na administração de uma coisa imperfeita, que é o sistema de mercado controlado. Portanto, a gente tem de aceitar a ideia de participar dessa organização, mas com poder de decisão, combater decididamente para preservar nossa autonomia. JOSÉ ARBEX JR. - Os Estados Unidos nunca foram tão arrogantes na prática de uma política imperialista, nunca foram tão ofensivos em relação à ONU e a todas as instâncias multilaterais e nunca impuseram tanto sua vontade sobre o resto do planeta. O que o senhor sente quando vê essa conjuntura mundial? O que pode acontecer? Sinto, primeiramente, que os Estados Unidos não estão preparados para exercer esse papel. É grotesco o comportamento deles, por exemplo, no caso do Iraque. É evidente que os americanos acumularam um poder enorme, mas é um poder meio falso. O país tem um enorme déficit na balança de pagamentos de conta corrente e, a cada ano que passa, o governo se endivida numa escala descomunal, dependendo totalmente de capital externo. As empresas americanas, a sociedade americana, só fazem se endividar. Acostumaram-se a viver endividados. Mas isso é precário. Quer dizer, tem de haver um entendimento mais amplo, uma reforma mais completa no quadro das relações internacionais. No âmbito comercial, seria uma reforma na OMC. Quanto às relações financeiras, temos de marchar para uma nova conferência de Bretton Woods, como
_24/
18 entrevistas _ revista caros amigos
É evidente que os americanos acumularam um poder enorme, mas é um poder meio falso. O país tem um enorme déficit na balança de pagamentos de conta corrente e, a cada ano que passa, o governo se endivida numa escala descomunal, dependendo totalmente de capital externo. As empresas americanas, a sociedade americana, só fazem se endividar. Acostumaramse a viver endividados. No âmbito comercial, seria uma reforma na OMC. Quanto às relações financeiras, temos de marchar para uma nova conferência de Bretton Woods, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que se chegou à conclusão de que, para sair da enrascada do sistema econômico e financeiro internacional da época, era preciso criar instituições novas. Deu um trabalho enorme!
aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que se chegou à conclusão de que, para sair da enrascada do sistema econômico e financeiro internacional da época, era preciso criar instituições novas. Deu um trabalho enorme! Eu participei disso. Criou-se, por exemplo, o FMI, mas os Estados Unidos impuseram suas regras e se fez como os americanos queriam. Os próprios ingleses tinham um projeto diferente, concebido pelo lorde Keynes. Depois houve uma discussão muito maior com respeito ao comércio mundial, naquela conferência em Havana, em 1948, que não deu em nada porque os americanos tinham um medo enorme de perder espaço. JOÃO PEDRO STEDILE - Mas o senhor acha que a era do dólar como moeda está chegando ao fim? Está ameaçada. É possível que os americanos se corrijam, compreendam isso e estabeleçam um outro sistema de relações internacionais. Eles têm muito poder para fazer isso. Se bem que tenham menos poder do que se imagina. O caso é que os americanos têm de reconhecer o fato de que quem cresce mesmo na economia internacional é a China. A China foi que mais cresceu nos últimos anos e hoje é, de longe, o maior centro de atração de capitais internacionais. Agora, a China se orienta por outras regras. Ela não entregou os pontos assim, não. Joga de acordo com seus próprios esquemas. Outro país que também tem muita importância é a Índia. E assim por diante. Então, o poder está se distribuindo, o que é um bom sinal. Há um caso que é um mistério: o Japão. O Japão é uma economia enorme, mas sem dinamismo. É que durante muito tempo se beneficiou, para crescer, de um espaço vazio que havia no sudeste da Ásia. Cresceu nesse espaço. Foi fácil para ele expandir enormemente seu comércio internacional nessa área do mundo. E, hoje, os países dessa região estão meio saturados de investimento japonês. O Japão não tem mais
onde colocar o dinheiro. Está já há vários anos vegetando, crescendo muito pouquinho, nem parece mais a economia japonesa do passado. Portanto, a situação internacional, global, não é simples e não é alvissareira para os Estados Unidos, porque os americanos não têm projeto, particularmente no que diz respeito às relações com o Terceiro Mundo. JOÃO PEDRO STEDILE - Voltando ao Brasil, o senhor recomendaria ao Lula reabrir a Sudene? Ah, sim. Já recomendei. JOÃO PEDRO STEDILE - E qual seria o papel da Sudene num governo Lula? Primeiramente, ela teria de voltar a ser o que era originalmente, e não essa caricatura em que se transformou. A Sudene era um órgão que permitia uma articulação melhor, de outro estilo, entre a administração federal e as estaduais. Por exemplo, o superintendente da Sudene tinha nível de ministro. Em segundo lugar, as decisões do conselho deliberativo eram de uma transparência total, não havia mistério lá. Dele participavam os nove governadores dos Estados do Nordeste. Esse órgão coletivo exercia o poder através dos governadores, que tomavam decisões conjuntamente com o governo federal, representado pelo superintendente. Tomavam uma decisão e o governo federal tinha de aceitar porque senão ficava em conflito com a Sudene e, portanto, havia a necessidade de uma cooperação fina, delicada, mas muito eficaz dos Estados com o governo federal, na qual se evitavam conflitos de jurisdições. Os Estados pequenos do Nordeste não têm expressão política, não pesam no Congresso Nacional, vivem barganhando pequenas coisas. E a Sudene representou no Nordeste a criação de um poder capaz de competir com o dos grandes Estados, como Minas Gerais ou São Paulo. Nos seis anos que passei na Sudene, nunca houve suspeita de desonestidade no uso de tantos recursos,
\25_
#01_ Celso Furtado
tanto dinheiro que a Sudene usou naquela época, e era muito mais do que hoje. PLÍNIO SAMPAIO JR. - No livro O Brasil, uma Sociedade Interrompida, o senhor termina um capítulo dizendo que é a hora e a vez do Brasil, que estamos num momento de decisões fundamentais. Como essa afirmação se traduz em mudanças concretas para o povo? A primeira questão que eu privilegiaria é a criação de emprego, bem como a eliminação da fome endêmica pela integração ao sistema produtivo dessa população que hoje é marginal. Há muitos passos a dar que são fundamentais. Se você considerar que o Nordeste tem hoje em dia uma capacidade de exportação bastante grande, você pode dizer que a política de exportação do Nordeste pode beneficiar todo o Brasil. É preciso ter uma compensação em troca disso? É uma questão a ser debatida. E assim por diante. Há mil coisas a fazer. A luz que tem de iluminar tudo é a ideia de que queremos uma sociedade nova, e que o homem tenha trabalho e tenha possibilidade de abrir o seu caminho por conta própria, tenha independência e fé no futuro. JOSÉ ARBEX JR. - O senhor mencionou que o governo do PT terá uma tarefa fundamental, que é tentar impedir esse processo de desagregação do Brasil. O senhor acha possível uma política para impedir essa desagregação com Meirelles no Banco Central? Bem, Meirelles é um acidente. Não creio que Meirelles seja um dado estrutural. Evidente que prevalece neste momento, quando o Lula ainda nem tomou posse (entrevista concedida em dezembro), a ideia de colocar tudo a serviço da sobrevivência de uma conquista. O PT conquistou o poder e esse poder ainda não está concretizado. Para transformá-lo em realidade, o governo do PT precisará agir em muitas frentes – aí é que se vê que a coisa não é sim-
_26/
18 entrevistas _ revista caros amigos
ples. Mas acho que o PT está preparado. Não quero afirmar categoricamente, mas acho que, na cabeça dos líderes do PT, existe essa ideia de que “ou nós consolidamos nossa posição inicial, para podermos pisar com o pé firme, ou não sobrevivemos, porque então vai acontecer o que sempre acontece no Brasil, o esbagaçamento disso tudo”. Agora, para ganhar essa batalha inicial de consolidação, o governo e o partido precisam de legitimidade, insistir no critério da decência. Não podem fazer barganhas absurdas, é preciso que haja uma limpeza na prática política para ganhar a briga diante da opinião pública. O que vai acontecer, daqui a algum tempo, vocês vão ver, é que se dará um grande debate em torno de questões como essa de saber se o Banco Central deve ser legitimamente brasileiro ou uma instalação estrangeira no Brasil. Tudo isso vai ser debatido, e com muita participação. Mas essa participação depende da vitória que eles acabam de ter, da consolidação do espaço conquistado. É assim que eu entendo a ideia. Não é seguirmos por esse caminho e consolidar o Banco Central, porque é falso, ele não será brasileiro se for um Banco Central soi-disant independente. Sou uma pessoa muito otimista; no fundo, preciso encontrar uma saída para o homem, preciso acreditar no homem. Então, vendo essa situação de relativa indecisão, é a coisa mais fácil você fazer uma caricatura dela, como o Veríssimo e outros estão fazendo. Ou seja, valeu a pena dar essa briga toda para terminar com esse senhor Meirelles, um banqueiro internacional, no comando do sistema bancário brasileiro? A verdade é que é preciso muita coragem para assumir certos riscos. E o que eu vejo aí é: ou o governo aceita assumir um ato de coragem, “vou me arriscar, mas sei o que estou fazendo, persisto nessa direção, é uma concessão que estou fazendo agora para depois corrigir essa rota”, ou então “não tenho capacidade ne-
nhuma, me acomodo e vou imaginar que os empreguinhos que vou distribuir serão suficientes para explicar a minha presença”. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor foi um homem de ação. Durante 50 anos, teve atuação permanente na vida pública do país. Ou seja, não foi um acadêmico típico, foi duas vezes ministro, criou a Sudene, defendeu com paixão a necessidade da reforma agrária. O senhor diria o que ao governo Lula? Que erros ele não pode cometer ou de que perigos ele tem de se cuidar? Erros é difícil dizer, porque a imaginação dos homens para cometer erros não tem limites, não é? Mas tenho a impressão de que o grupo que está no comando do novo governo está disposto a travar uma briga forte contra uma situação muito ingrata, que é essa situação que se criou de você ter de se compor com esse mundo de gente que se vê nos comentários da imprensa: “Está tudo uma beleza, está melhor do que se pensava”... – a gente sente que, para fazer esse jogo, se é que se quer chamar de jogo, para abrir esse front, precisa de muito topete, de muita coragem. JOÃO PEDRO STEDILE - Para encerrar: o senhor falou durante toda a entrevista que o fundamental agora é a política e não a economia. E que na política é essencial a participação popular. Então qual seria a sua recomendação para os militantes sociais? De uma maneira geral, eu diria que valorizem as instituições de base popular e que se organizem no país movimentos de opinião, que deixemos de ser uma massa amorfa explorada pelos aventureiros. A sociedade brasileira tem de se organizar de modo mais consistente para exercer o seu poder real, que foi demonstrado agora, nessas eleições, quando teve acesso a ele e ficou um pouco surpreendida, claro, mas teve acesso. A verdade é essa.
Sou uma pessoa muito otimista. No fundo, preciso encontrar uma saída para o homem, preciso acreditar no homem. Então, vendo essa situação de relativa indecisão, é a coisa mais fácil você fazer uma caricatura dela. A verdade é que é preciso muita coragem para assumir certos riscos. E o que eu vejo aí é: ou o governo aceita assumir um ato de coragem, “vou me arriscar, mas sei o que estou fazendo, persisto nessa direção, é uma concessão que estou fazendo agora para depois corrigir essa rota”, ou então “não tenho capacidade nenhuma, me acomodo e vou imaginar que os empreguinhos que vou distribuir serão suficientes para explicar a minha presença”
\27_
_28/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#02_ Chico Buarque _
Dezembro de 1998
Chico, o craque de sempre Os recentes episódios políticos que levaram multidões às ruas do Brasil recolocaram Chico Buarque em destaque no palco da vida pública brasileira. Sua imagem, em março de 2016, segurando uma rosa vermelha, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, em pleno aniversário de 52 anos do golpe de 1964, circulou como uma marca desses novos velhos tempos. Ele tinha acabado de falar a milhares de pessoas em uma defesa “intransigente”, segundo suas próprias palavras, da democracia. Aos gritos de “Chico, guerreiro do povo brasileiro”, agradeceu: “Vocês me animam a acreditar que não, de novo não, não vai ter golpe”. Chico sempre deixou claro de que lado está, desde o início de sua carreira, nascida praticamente junto com a chegada dos militares ao poder. Com várias obras censuradas na ditadura, é dele a música que se tornaria a “trilha sonora” das Diretas-Já, Pelas Tabelas. A rosa vermelha, dada por um manifestante, tornou-se simbólica diante do conturbado momento político do país e da resposta de Chico à intolerância - em dezembro de 2015, foi abordado na rua e hostilizado pelo apoio ao PT, a Lula e oposição ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Voltou aos holofotes três meses depois ao proibir que suas músicas fossem usadas na peça Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, reação à postura prógolpe do ator e produtor Claudio Botelho. Posturas coerentes de quem, mesmo avesso a se colocar no centro das atenções e da mídia, nunca se furtou a se posicionar politicamente e que, passados tantos anos da era dos punhos de ferro, por essas e outras, reassumiu seu lugar no centro da roda-viva.
Francisco Buarque de Holanda nasceu no Rio de Janeiro em 1944, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Trocou o curso de arquitetura pela música no início dos anos 60. Venceu, com A Banda, o primeiro festival, em 1966, ano de seu disco de estreia. Teve músicas e peças de teatro censuradas e, em 1969, se autoexilou na Itália. Também trabalhou com cinema e escreveu livros, três deles ganhadores do Prêmio Jabuti (Estorvo, Budapeste e Leite Derramado). ENTREVISTADORES Ana Miranda Regina Echeverria Plínio Marcos José Arbex Jr. Carlos Tranjan Marco Frenette Johnny Walter Firmo Sérgio de Souza
\29_
#02_ Chico Buarque
SÉRGIO DE SOUZA - Abriria os trabalhos dando a palavra, a primeira pergunta, às damas... ANA MIRANDA – Uma das preocupações que tenho é a respeito da função social da literatura. Estive conversando com o Raduan Nassar e ele disse o seguinte: literatura não serve para nada, só serve para divertir o escritor na hora em que está escrevendo e chatear depois que termina, porque se publicar... (risos) Você acha que a literatura tem uma função social? Tendo a concordar com o Raduan, prezo bastante a inutilidade da literatura, como das artes em geral, e concordo também que a função principal é divertir quem escreve. Quando estou escrevendo, me divirto à beça; quando estou compondo, também. Quando estou criando, encontro o prazer que não encontro nas férias. As férias para mim são um grande aborrecimento, fico aflito, ou porque acabei de concluir um trabalho ou porque estou procurando o que fazer em seguida – é um intervalo inócuo. . REGINA ECHEVERRIA - O Raduan diz que a coisa melhor do mundo é dormir... ANA MIRANDA - Perguntei para ele e pergunto para você: você seria a mesma pessoa se não tivesse lido os livros que leu? Não. ANA MIRANDA - Então literatura tem uma função? Tem a função de alimentar novos escritores, que terão, por sua vez, o prazer de escrever e o prazer de ler. As duas coisas se misturam, na verdade, quando disse escrever, errei. Meu maior prazer é ler o que escrevi. Além do prazer da leitura, alimenta a sua vaidade – “fui eu que escrevi isso”. Escrevo para ler. O momento mesmo de escrever não é tão prazeroso assim. É um antegosto, você sabe que está escrevendo para ler depois “Quando ficar bom, vai ficar ótimo de ler”.
_30/
18 entrevistas _ revista caros amigos
CARLOS TRANJAN - Como você faz? Reescreve muito, parte de um roteiro, faz planos? Quando começo um livro, não tenho um roteiro, aliás, começo várias vezes até encontrar um caminho que pareça o caminho de um futuro romance ou o que seja, mas só vou definir mais ou menos o que será esse livro, esse roteiro, depois já de alguns passos dados, algumas páginas escritas. Por exemplo, falando dos meus romances, Estorvo e Benjamin, eles partiram de uma ideia abstrata, não partiram de nenhum planejamento. É claro que chega o momento - “Parece que vou embarcar nesse livro”. Aí você traça um roteiro, que muitas vezes, no curso da escrita, vai se modificando. SÉRGIO DE SOUZA - Você tem um método, uma disciplina, xis horas por dia? Não precisa, porque fico vivendo em função daquilo, trabalho o dia inteiro, o dia todo. JOSÉ ARBEX JR. - Quando você radicaliza a noção de que arte é o prazer lúdico e só isso, não está criando uma linha de ruptura muito dramática na tua própria história, um “muro de Berlim” entre o Chico artista e o Chico engajado? Você não está criando um conflito aí? Não estou criando conflito nenhum, a não ser que você considere algumas músicas compostas em plena ditadura, onde a noção de arte e a de serventia política se misturavam. Mas eu já disse: essas canções mais marcadamente políticas são circunstanciais, canções que eu não incluiria entre as minhas melhores. E não são tão numerosas assim, como às vezes parece. O que há e sempre houve é uma participação do cidadão que se fez conhecido pela sua arte, mas não sei se é o “muro de Berlim”. Na minha cabeça, consigo dividir tranquilamente o artista e o cidadão. O cidadão, na verdade, está usurpando de certa forma o prestígio do artista. Aí
Na minha cabeça, consigo dividir tranquilamente o artista e o cidadão. O cidadão, na verdade, está usurpando de certa forma o prestígio do artista. Aí sim tirando algum proveito disso e se colocando a serviço de alguma coisa. Está sendo de certa forma útil, no seu ponto de vista. sim tirando algum proveito disso e se colocando a serviço de alguma coisa. Está sendo de certa forma útil, no seu ponto de vista, para determinados candidatos, mas não necessariamente no momento da criação. Até preferia que não tivesse havido a necessidade de misturar política com criação artística. Preferia que não tivesse existido a censura, que era uma interferência direta na criação do artista. A música, mesmo a imprensa, quando você está escrevendo um artigo debaixo de censura, ela está interferindo na tua escrita, na tua criação. Isso acontecia no começo dos anos 70, principalmente. Não foi uma escolha minha. JOSÉ ARBEX JR. - No disco lançado agora, As Cidades, você coloca o tema cidades e ao mesmo tempo faz todo um trabalho com a tua cara, como índio, como negro, com etnias. E no mundo contemporâneo, a cidade é o local onde se dá o conflito das etnias, é o que está acontecendo na Bósnia, os conflitos raciais na Europa, os neonazistas etc. De uma forma ou de outra, a tua concepção de mundo acaba interferindo, conscientemente ou não, na tua produção estética. Por isso, estranho você separar o Chico artista e o Chico cidadão. ANA MIRANDA - Que é uma pessoa só.
Quem disse que é uma pessoa só? (risos) Você está citando um caso que para mim é exemplar. A capa do disco, aliás, não foi feita por mim, foi feita pelo Gringo Cardia, que se presta a esse tipo de interpretação. Mas ela foi criada depois do disco. Não fiz nenhuma dessas canções pensando no conflito de etnias. Isso é uma possível interpretação do Gringo Cardia e a sua já é uma outra interpretação do que o Gringo possa ter imaginado, que não sei se foi isso. Não vi conflito étnico na capa do disco. Vi uma conjunção étnica com a minha cara, mas não pensei na Bósnia. Há uma infinidade de interpretações possíveis só que todas posteriores à criação, inclusive a minha. A música Assentamento, por exemplo. As fotos do livro do Salgado (Terra) me serviram de motivação, de inspiração, ou o que você quiser, para escrever aquela música, mas ela foi criada dentro do meu universo estético. A partir daí, fiquei satisfeito porque a música, enquanto música, entrou no livro do Salgado, e o livro tinha uma finalidade prática mesmo, até pecuniária. Os direitos do livro foram cedidos para os sem-terra, aí é outra coisa. “A música já está criada e vamos ver o que a gente faz com ela.” A gente cria um objeto de arte, a gente pode criar a partir dessa música uma utilidade prática, mas criar uma música pensando na sua finalidade objetiva me parece perigoso, empobrecedor mesmo. PLÍNIO MARCOS - Na minha opinião, você é o poeta que mais interpreta a alma feminina. Isso passa para todo mundo. Quando vai trabalhar com essas músicas, principalmente, você usa a intuição partindo da sua vivência ou deixa fluir na hora? Me surpreende que você faça essa pergunta (ri)... Navalha na Carne. PLÍNIO MARCOS - Navalha na Carne eram três monstros, e as suas não, são mulheres ricas de delicadeza.
\31_
#02_ Chico Buarque
Pois é, você, para criar a Neusa Sueli, de certa forma teve de intuir. Monstro ou não monstro, era uma personagem feminina que você criou. PLÍNIO MARCOS - A minha sensibilidade estava violenta, eu estava rebelde, e você não. É sempre meigo e doce com as mulheres. Não, nem sempre. Em textos como Gota d’Água, por exemplo, que escrevi com o Paulo Pontes, aquela mulher também era uma monstra, aquela Medeia do subúrbio. Agora, a canção, de certa forma, adocica um pouco essa monstruosidade, então, a canção que ela canta, que é a Gota d’ Água, e a outra, Bem Querer, não são canções monstruosas. A melodia, de certa forma, adocica o que poderia haver de literatura em uma letra de música. Tanto é que escrevo livros sem música, quer dizer, é uma literatura desprovida de música, muito mais seca que a letra das canções que são escritas em função daquelas melodias. MARCO FRENETTE - Existe uma preocupação com o trabalho do seu pai, o grande Sérgio Buarque de Holanda, principalmente agora que está fazendo mais literatura? Você criou alguma relação com o ofício dele de escritor, de historiador? O trabalho do seu pai lhe vem à mente? Sempre houve isso, como já falei outras vezes. Quando comecei a escrever literatura, antes mesmo de fazer música, era com meu pai que eu dialogava. Tive acesso ao escritório do meu pai através da senha da literatura. Quer dizer, o meu ingresso, porque o escritório dele era fechado, ele ficava lá e crianças eram indesejadas, a não ser a filha preferida – meu pai tinha a filha preferida, ela podia entrar... ANA MIRANDA - Quem era a filha preferida? A Ana, tua xará. Todo mundo morria de ciúme dela, porque só ela podia ir lá, na cadeira dele, sentava no colo dele, mexia nos papéis dele, o
_32/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Quando eu era criança, não sabia exatamente o que meu pai tanto fazia naquele escritório (risos), aquele cléc, cléc, cléc, o barulho da máquina. Eu não tinha muito essa ideia do meu pai, mesmo porque até professores raramente se referiam a ele como alguém importante. resto não entrava. Então, só tive acesso ao escritório do meu pai quando levei os meus primeiros escritos, e ele, apesar de eu ser um garoto de 15 anos, levou a sério, me estimulou a escrever. É claro, pichando aquilo que estava escrito ali, dizendo: “Você tem de ler mais”. Mas levando a sério, observando, lendo, né? O primeiro conto que publiquei no suplemento do Estado de S. Paulo, o meu pai que encaminhou ao Décio de Almeida Prado. É um conto de juventude, enfim, isso permanece ainda hoje, aquela história do poema do João Cabral. Aquela pessoa que ele imagina por cima do seu ombro não é sempre, mas muitas vezes é meu pai. Quando escrevi Fazenda Modelo, meu pai era vivo e eu mostrava para ele os primeiros capítulos. Ele leu, até gostou. Enfim, eu gostaria, entre outros motivos, de ter o meu pai vivo, sinto falta dele. Quando termino um livro, seria a primeira pessoa a quem eu mostraria o original. JOSÉ ARBEX JR. - Quando você teve neto pela primeira vez, pensei o que seria ser filho do Chico Buarque e neto do Sérgio Buarque. É um peso, hein! O teu pai nunca foi um peso nesse sentido, uma coisa de competição? Não, engraçado, só fui tomar conhecimento da importância intelectual do meu pai já homem feito. Quando eu era criança, não sabia exatamente o que meu pai tanto fazia naquele escri-
tório (risos), aquele cléc, cléc, cléc, o barulho da máquina. Eu não tinha muito essa ideia do meu pai, mesmo porque até professores raramente se referiam a ele como alguém importante. Muitas vezes, durante a minha infância toda, me perguntavam se eu era filho do Aurélio. E muitas vezes diziam: “Olha o sobrinho do Aurélio” (risos), e eu fiquei com uma certa aversão ao Aurélio Buarque de Holanda. Eu dizia: “Não sou filho, não sou sobrinho, ele é um primo muito distante do meu pai” (risos). Porque aquilo me chateava um pouco. Não queria ser filho do Aurélio. Poucas vezes, um professor de história dizia: “Ah, filho do Sérgio Buarque de Holanda”. Mas não era uma referência forte como intelectual. PLÍNIO MARCOS - E na bola, teu pai te influenciou? Nada, meu pai não gostava de futebol, dizia que torcia para o Bonsucesso (risos). REGINA ECHEVERRIA - É verdade que você está mais ligado em literatura do que na música? Não, acho que a entrevista se encaminhou um pouco para esse lado, não sei se estou mais interessado em literatura. Tento alternar as duas coisas. No momento, não, acabei de gravar um disco! JOSÉ ARBEX JR. - Numa entrevista, você falou que não tinha mais vitalidade para fazer MPB. Disse que para fazer MPB tem de ser jovem. Não. É porque isso aí tem sido cobrado – “tanto tempo entre um disco e outro, cinco anos”. Tento dizer que não sou um caso isolado, e é até surpreendente que, aos 54 anos, esteja lançando um disco de música popular. Não é natural. Natural num compositor de música popular é que ele vá produzindo cada vez menos. Você vai olhar, no Brasil e fora do Brasil, o sujeito faz muita música aos 20, 30, 40 anos. Uma interpretação minha é que isso tem a ver até com o público que consome música popular. Não ouço
mais música popular como ouvia quando tinha 20 anos, por exemplo. Não gosto mais tanto de música popular como gostava. Então, acho que é uma arte de juventude. PLÍNIO MARCOS - Impressionante é aos 54 anos ele ser tarado por futebol (risos). Pois é. ANA MIRANDA - Ser tarado, não, ser craque do futebol. Mas, aos 54 anos, “você não corre mais como corria aos 20 anos” (risos). Acho que correr o que corro já está de bom tamanho (risos). ANA MIRANDA - E você faz outras coisas, nesse intervalo de cinco anos. Tem um milhão de coisas, não é? Pois é, mas como agora estou falando de música, lançando um disco, as pessoas que vão falar do disco ignoram absolutamente o resto. É como se não existisse. Aí, são dois departamentos estanques. Quando eu lançar meu próximo livro, as pessoas vão me perguntar: “Mas por que cinco anos entre esse romance e o anterior?” E vou ter de falar, quase que com vergonha: “Porque eu estava fazendo música e, depois de música, eu fiz shows (risos) e essas coisas ocupam muito tempo da gente”. E não é esse cansaço que se atribui, porque eu gosto, como falei antes, meu grande prazer é estar trabalhando. Agora, o ritmo é outro. É normal que seja outro. É menos espontâneo do que era aos 20 anos. Você procura mais, burila mais. JOSÉ ARBEX JR. - E qual tua avaliação em relação ao que os jovens estão produzindo hoje de MPB? Ouço muito menos do que ouvia antes. JOSÉ ARBEX JR. - Você ouve o que hoje? Quase nada (risos).
\33_
#02_ Chico Buarque
JOSÉ ARBEX JR. - Por quê? Porque durante meses, agora nos últimos três, quatro meses, estive simplesmente dedicado a gravar meu disco. Quando estou compondo e gravando, não tenho espaço para ficar assimilando músicas alheias. A cabeça está toda voltada para a criação, e é assim também quando estou escrevendo um livro. Aí, não leio outros livros, a não ser que estejam ligados àquilo que estou escrevendo, uma pesquisa ou coisa assim, mas não leio ficção quando estou escrevendo ficção. PLÍNIO MARCOS - Fale para mim, entre as tragédias da sua vida, o que você tem a dizer do Fluminense? (ri) Não é tragédia nenhuma, Plínio. É igual à sua com o Jabaquara (risos). PLÍNIO MARCOS - Aliás, o Djalma, presidente, vai te mandar um emblema do Jabaquara. Provavelmente, você será torcedor honorário do Jabaquara. SÉRGIO DE SOUZA - Por falar em futebol, o seu time de botão era o Politeama, era isso? O meu time de botão era Politeama. Não tenho mais. SÉRGIO DE SOUZA - Tinha até um hino, não é, quando você “entrava em campo”? Você se lembra do hino? Lembro. SÉRGIO DE SOUZA - Como era? (cantarola) Politeama, Politeama, o povo clama por você/ Politeama, Politeama, cultiva a fama de não perder (risos). PLÍNIO MARCOS - E quem eram os seus adversários nisso aí? Sabe que eu jogava muito sozinho, não é? (risos) Aí, no tempo do Jabaquara, eu fazia cam-
_34/
18 entrevistas _ revista caros amigos
peonatos. Campeonatos paulistas, campeonatos cariocas, juntava aqueles 12 times. Eram 12 na época aqui no Rio, e 12 em São Paulo. Fazia o campeonato paulista, fazia o campeonato carioca e depois fazia o Rio/São Paulo (risos). PLÍNIO MARCOS - Sozinho? Sozinho, eu contra eu mesmo, e roubava um pouquinho também. ANA MIRANDA - Para quem você roubava? Para o Fluminense (risos). Ele era sempre campeão. JOHNNY - Você nunca teve um rival de botão? Sim, todo mundo tinha time de botão. Eu jogava com outras pessoas também. Mas fazia a seleção e, para fazer a seleção, tinha de fazer o campeonato interno, e esse aí eu ficava horas (risos). E era no chão de madeira, na casa dos meus pais, e pá, pá, pá, horas jogando botão. PLÍNIO MARCOS - E implicava solidão esse jogar botão sozinho? Claro, o que eu mais jogava era sozinho. E ficava narrando. PLÍNIO MARCOS - Narrava o jogo? Narrava, claro (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Você compõe, joga campeonatos, planeja cidades sozinho, você mergulha na tua solidão e daí surge um mundão de personagens, no caso, cidades, ruas, vias, e quase tudo? Não. Cidades, tenho feito menos. Antigamente, fazia cidades completas. Tinha tudo ali, tinha linha de ônibus, os cinemas, com nome, tudo certo. CARLOS TRANJAN - Você falou que preferia não ter composto sob aquela censura toda. Você
acha que hoje a gente não está num período menos criativo de MPB? O que vende hoje é axé, pagode, não tem mais a dimensão que tinha naquela época. Você vê isso como uma coisa geral brasileira? Você acha que aquele seria um período tão criativo se não tivesse essa censura? Esse período, o período mais fértil da música e o período que deu início a tudo o que a gente conhece hoje como moderno cinema brasileiro, como moderno teatro, isso antecede a censura. Há um equívoco muito grande. Falam em época dos festivais, mas foi a partir da bossa nova que se desencadeou isso tudo. Foram os finais dos anos 50, ali que a coisa explodiu. E, quando comecei a gravar, a segunda geração da bossa nova e tal, foi nos anos 60. Até meados dos anos 60 não havia censura. Volta e meia, ouço falar: “Não, porque a censura não sei o quê...”. A censura só passou a existir institucionalizada a partir do AI-5, fim de 68. A partir de 69 é que existe censura. Tive nessa época, antes de 68, um problema com uma música, Tamandaré, que aí a Marinha implicou e proibiu. Mas a censura como censura não existia. Então, entre 64 e 68 – já tínhamos uma ditadura militar –, as artes praticamente não foram incomodadas. A chamada música de protesto, teatro de resistência, tudo floresceu entre 64 e 68. Então, esse período a que as pessoas se referem tanto “ah, os festivais, hã, hã, hã...”, não, não havia censura. SÉRGIO DE SOUZA - Na própria imprensa, antes de 68, não havia. Não havia. Leio, às vezes, barbaridades sobre isso. A censura começou a existir em 69 e foi abrandando em 75/76. O período Médici foi o de pior censura e não ajudou em nada. Se você for olhar o que se produziu em música e em cinema, em teatro, vai haver um buraco. Isso são fatos. São fatos. Constatei isso com o meu trabalho, quando fui olhar o primeiro livro compilando as
Há um equívoco muito grande. Falam em época dos festivais, mas foi a partir da bossa nova que se desencadeou isso tudo. Foram os finais dos anos 50, ali que a coisa explodiu. E, quando comecei a gravar, a segunda geração da bossa nova e tal, foi nos anos 60. Até meados dos anos 60 não havia censura. Volta e meia, ouço falar: “Não, porque a censura não sei o quê...”. A censura só passou a existir institucionalizada a partir do AI-5, fim de 68. A partir de 69 é que existe censura. Tive nessa época, antes de 68, um problema com uma música, Tamandaré, que aí a Marinha implicou e proibiu. Mas a censura como censura não existia.
\35_
#02_ Chico Buarque
minhas músicas, edição dupla da Companhia das Letras. Você vai ver lá, 61/62 eu vinha produzindo em quantidade razoável, ali aquilo foi esvaziando e em 75/76 começa a crescer de novo. E vai ver o que se produziu em cinema, tudo, nesse período. Não é verdade. Volta e meia, surge esse argumento: “Não, porque a censura de certa forma estimulava”. Não estimulava nada. Pelo contrário. REGINA ECHEVERRIA - É que isso ficou mesmo meio no ar. Mas as pessoas misturam muito 64 com 68. O Plínio Marcos sabe disso. Quando veio aquela coisa, aí sim houve todo um movimento muito grande em torno do teatro e... PLÍNIO MARCOS - Porque queríamos, se você me permite, combater com a nossa arte. E combatíamos, por quê? E a arte tinha uma importância maior, por quê? Porque, a partir de 64, partidos políticos foram banidos, sindicatos, movimento estudantil, tudo isso foi muito afetado em 64. A arte, a cultura, não foi. Deixaram esse espaço livre. Diziam que Castelo Branco gostava muito de teatro. Havia um espaço para produzir. E esse espaço até ficou supervalorizado por causa disso. Pela carência de discussão política onde deveria acontecer, no Congresso, nas universidades, nos sindicatos. JOSÉ ARBEX JR. - Mas, hoje em dia, não está acontecendo uma coisa inversa? Qualquer atitude que um artista toma hoje em dia se torna um fato político, pelo poder da mídia. Porque justamente existe uma crise na ideologia. As pessoas não sabem em quem acreditar. Existe uma crise do discurso, crise da narrativa de mundo, o socialismo desabou. Então, se um artista toma uma postura, se o Caetano fala que foi legal o Antônio Carlos Magalhães ter feito o Pelourinho porque restaurou o centro
_36/
18 entrevistas _ revista caros amigos
de Salvador, isso se transforma num fato político, querendo ou não. Quer dizer, o gesto do artista, querendo ou não, se transforma num fato político, predominantemente por causa do poder da mídia e do mecanismo de identificação que existe entre a população e o artista. Você não acha isso? Mas acho que isso é uma reminiscência do papel político que o artista desempenhou no período de exceção. JOSÉ ARBEX JR. - Será? O John Lennon, por exemplo, não viveu período de exceção nenhum, mas o gesto dele era um gesto... Estou falando do Brasil. Agora, se você quiser entender o resto do mundo, vai ver que os artistas tiveram uma função também extraordinária nos Estados Unidos na mesma época, e havia a Guerra do Vietnã. Então, a gente via a Jane Fonda, via a Joan Baez cantando, o Bob Dylan, que tinha uma importância política, os Beatles estavam nesse negócio também. E havia também toda uma revolução comportamental na época. Aí entra todo o movimento de contracultura, o Paz e Amor e está tudo ligado àquele momento. E a importância dos artistas naquela geração. Você falou de Caetano, falou do John Lennon, mas, antes de tudo, a reação permaneceu porque aquele período foi um período de exceção. Hoje em dia, um artista que não tem esse passado, um artista que está surgindo agora, ele não tem essa expressão política, não se vai dar destaque maior a uma opinião política que ele venha a ter. E porque, outra coisa, hoje em dia, aqui no Brasil, voltando à vaca fria, o artista jovem já encara o período de eleição, por exemplo, como mais um fato do show business. É uma época em que ele vai fazer shows para candidatos, vai cantar nos chamados showmícios porque é pago para isso. Faz parte da agenda comercial. O empresário deve agendar o artista. Chega essa época, ali vamos ter eleição, então, o preço do artista sobe.
No tempo em que eu fazia sucesso na televisão, na TV Record e outras, quem fazia sucesso mesmo era Roberto Carlos, era Wanderléa, Jerry Adriani. Eu estava no segundo time. Eles vendiam muito mais, tocavam muito mais, levantavam auditório. CARLOS TRANJAN - E você acha que isso contribui de certa forma para piorar um pouco a música popular que se faz hoje? Mas uma música marcadamente comercial sempre existiu, como existe hoje, então não estou aqui para julgar se tal música é boa ou não é boa, não é meu papel. Agora, sempre existiu uma música mais comercial do que a minha própria música, que é uma música que ganhou, com o tempo, um certo prestígio e destaque na mídia e tal. No seu tempo, não foi tão comercial assim. Havia outras coisas que vendiam muito mais, que tocavam muito mais no rádio. PLÍNIO MARCOS - Com a sua música ou com a sua literatura, você continua assustando os poderosos. Eles ficam arrepiados. Bondade sua. PLÍNIO MARCOS - Por que veio esse Fernando Henrique falar? Porque você o assusta. Assustar eu não assusto, não, não, não... PLÍNIO MARCOS - Aquele ali tem medo da sombra (risos). E você é perigoso, por isso foi subversivo. Foi, não, é. ANA MIRANDA - Eu tenho observado uma coisa ainda, voltando à música. Outro dia, entrei num restaurante muito elegante, estava tocando um bolerão daqueles que antigamente a gente ouvia em rodoviária.
PLÍNIO MARCOS - E na zona (risos). ANA MIRANDA - E na zona. Na zona, nunca fui, mas, enfim, pode ser também. E, no Festival de Montreux, foi a Carla Perez representar a música brasileira. Está acontecendo um fenômeno que algumas pessoas chamam de mediocrização da cultura, quer dizer, como é uma cultura de massa, então sempre o nível é muito baixo. Mas existe uma outra interpretação, qual talvez seja apenas minha, não sei se alguém concorda: é que talvez isso seja, efêmera ou não, uma vitória da cultura popular sobre a cultura erudita. Você veria dessa maneira também? Mas você está me colocando onde, na cultura popular ou na erudita? ANA MIRANDA - Nas duas, você é completo. Mas você é uma coisa mais elevada, só que... REGINA ECHEVERRIA - Faz música popular... Faço música popular. Sérgio de Souza - Mas não tão popular assim. Isso que estou falando, porque há uma tendência de imaginar que nos anos 60 a música era mais popular do que na verdade era. A bossa nova não era popular. Ela tinha um trânsito, assim, no meio universitário e tal. PLÍNIO MARCOS - Mas você era curtidor das músicas do Noel. Se bem me lembro... Era e sou. PLÍNIO MARCOS - ... uma vez vi você disputando, nem me lembro quem era a outra figura, quem sabia mais músicas do Noel. Permanece esse gosto? Permanece, mas tudo foi filtrado pela bossa nova. Comecei a fazer música a partir da bossa nova, tocava violão a partir da bossa nova.
\37_
#02_ Chico Buarque
Depois de um certo tempo, não só eu, como muitos bossa-novistas, começamos a procurar na música dos anos 30, dos anos 40, um alimento novo para a bossa nova. Quer dizer, a bossa nova de meados dos anos 60 não se parece mais com a bossa nova inaugural. Agora, aqueles elementos harmônicos, tudo o que o Tom Jobim e o João Gilberto trouxeram para a música, eles continuam valendo. Quer dizer, a minha leitura de Noel Rosa hoje passa pela bossa nova. Mas eu insisto, ela não era uma música popular. No tempo em que eu fazia sucesso na televisão, na TV Record e outras, quem fazia sucesso mesmo era Roberto Carlos, era Wanderléa, era Jerry Adriani. Eu estava no segundo time. Eles vendiam muito mais, tocavam muito mais, levantavam auditório. Não muda muito. SÉRGIO DE SOUZA - Em termos mais amplos, de imprensa mesmo, de arte em geral, você acha que hoje a tendência é de decadência ou marasmo e não de ascendência, como teria sido na sua época? O que acho, talvez, mais significativo tem a ver com o que a Ana Miranda falou, de ela ter entrado num restaurante e ter ouvido uma música que, alguns anos atrás, ela ouviria numa rodoviária. O que acho é que as pessoas que têm dinheiro hoje são culturalmente muito mais desinteressadas do que trinta anos atrás. Quer dizer, de certa forma, nos anos 60, os ricos se interessavam por cultura muito mais do que hoje. A classe dominante economicamente tinha uma preocupação cultural que hoje a classe dominante, ou emergente, não tem. Muitas vezes também, entro num restaurante desses, sento, estou escrevendo um livro, olho em volta e pergunto: “Quem é que vai se interessar por este livro?” Olho em volta e penso: “Ninguém que esteja sentado neste restaurante” (risos). E você se lembra de que nos anos 60 era chique estar bem informado e assistir a uma peça de Plínio
_38/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Muitas vezes também entro num restaurante desses, sento, estou escrevendo um livro, olho em volta e pergunto: “Quem é que vai se interessar por este livro?” Olho em volta e penso: “Ninguém que esteja sentado neste restaurante” (risos).
Marcos – desculpe, em nome da verdade – ouvir jazz, colecionar obras de arte e se interessar. Não em comprar, não pelo comércio de obras de arte, mas você se interessar por obras de arte. CARLOS TRANJAN - Você liga a TV e não tem mais festivais, não tem MPB. Tem o axé, tem o pagode, tem o sertanejo. Então, aconteceu alguma coisa. O que muda muito com relação aos anos dos festivais é que o que se valoriza hoje é a imagem sobre o som. Quer dizer, temos a televisão o tempo todo. Por que não tem MPB? Porque o sujeito sentado no banquinho tocando violão, como era nos anos 60, não só o João Gilberto como nós todos quando começamos, está mostrando uma música que não tem interesse mais nenhum para a televisão. Você tem de mostrar alguma coisa, você tem de dançar, você tem de... Já participei de shows, e não só no Brasil, na Itália, por exemplo, um show que fiz na televisão lá, o que você está cantando não tem importância nenhuma. O som que você está ouvindo naquele palco não tem importância nenhuma. Você não tem retorno, não tem nada. Agora, tem uma grua que vai mostrar a imagem daquele estádio lotado, porque o público também faz parte da mise-en-scène, do impacto visual, aquilo tudo é mais importante do que a música em si. Então, a televisão não tem interesse porque,
provavelmente, o público que está sentado em casa não tem interesse em ficar vendo o sujeito cantando. Para isso tem o disco, então o sujeito ouve o disco. Não tenho a menor pretensão de fazer sucesso na televisão. A gente grava o clipe porque tem de gravar, enfim, você vê que aquilo, de uma forma ou de outra, vai chamar a atenção para o disco. Então estou dando entrevista, batalhando, para chamar a atenção para um disco. Esse disco vai ser ouvido, espero, o sujeito ouve no carro, no meio do trânsito, ouve em casa, agora, não tenho a menor ilusão de fazer sucesso na televisão. PLÍNIO MARCOS - Mas, você, que é um dos mais brilhantes letristas da música brasileira, não acha que a tua letra é importante, que os caras vão ouvir e vão curtir? Aquelas tuas letras maravilhosas a juventude curtia, você acha que não há mais possibilidade de eles curtirem? Ah, mas há. Não estou me queixando. Não sei quem compra o disco, mas, de certa forma, o grande comprador de disco é jovem. Claro que carrego uma geração, imagino a minha geração, que parcialmente é responsável por parte da vendagem. Agora, se eu for contar só com o público cinquentão, a gravadora vai ficar decepcionada. Os shows que dei, a última temporada que fiz também, davam uma ideia disso, porque havia o público que é mais cinquentão sentado nas mesas e havia uma quantidade, acho que até maior, de filhos, de netos talvez, cantando junto canções de trinta anos atrás. REGINA ECHEVERRIA - Você não gosta mesmo de fazer shows ou isso é uma lenda? Não gosto especialmente de fazer show. Não gosto muito da ideia de, se tiver de fazer show, significa alguns meses do ano já comprometidos. Vou ter que ensaiar muito, porque a cada vez que paro são anos de falta de prática, en-
tão vou ter de ensaiar muito para ficar seguro. Tenho de tomar coragem para começar. Depois que começa, vai mais ou menos sem maiores sofrimentos. JOHNNY - Quando pego um CD como o teu, fico ouvindo duas, três, quatro, cinco vezes até a compreensão da totalidade de uma letra. Daí dou uma releitura daquilo, e é um tesão. Você tem consciência desse processo, do quanto incomoda a elaboração até pegar na totalidade da gente toda a sua mensagem? Gosto que seja assim. Se eu pudesse acreditar que o disco não vai ser ouvido uma vez, mas diversas vezes por cada um, aí a música vai ter cumprido o seu papel. Tenho absoluta certeza de que uma primeira audição não vai dar a ideia toda. Porque corresponde à criação. A criação também demandou um tempo largo. Há detalhes que são resultado de um grande trabalho. Aí parece até com a reescritura dos textos literários. JOSÉ ARBEX JR. - Desde que me conheço por gente, ouço você, que me provoca uma raiva, às vezes, muito grande... SÉRGIO DE SOUZA - Inveja. JOSÉ ARBEX JR. - Inveja. Primeiro é o plano dos achados linguísticos. Onde você achou “gelosia” para botar no meio da letra, como você foi caçar essa palavra? Isso, uma vertente, a dos achados linguísticos. A outra vertente é a que o Plínio já abordou e a Ana Miranda também. Você incorpora um personagem feminino, dá vida para aquele personagem que é de uma densidade absurda. Não tem nenhum artificialismo, Ana de Amsterdã, a Geny. Eu queria saber um pouco como ocorrem essas coisas com você? Você se fecha num quarto e começa a pensar e aí desce o Espírito Santo?
\39_
#02_ Chico Buarque
REGINA ECHEVERRIA - Você quer também perguntar se ele usa o Aurélio? JOSÉ ARBEX JR. - Você usa o Aurélio? O Aurélio eu não uso (risos). O meu dicionário é o Caldas Aulete, cinco volumes (risos). E tem um outro dicionário, aliás, por falar nisso, que é herança do meu pai. Meu pai me deu e disse: “Isso vai te ser útil”. E é tão útil que já comprei três em sebo, porque ele vai se desmilinguindo todo, que manuseio muito, é um dicionário analógico, aquilo é fundamental. Outro dia, li uma entrevista do João Ubaldo. Perguntaram qual era o livro de cabeceira dele. Ele disse que é esse (risos). Que é uma leitura maravilhosa. Não me lembro de gelosia, por exemplo. Pode ser que tenha chegado através disso. Quero botar janela, mas não quero botar janela, aí vai lá, janela, persiana, bararanranran, gelosia! É maravilhoso, gelosia, porque a gente sabe que é fácil imaginar outro significado... ANA MIRANDA - O significado também do ciúme, né? JOSÉ ARBEX JR. - E os pássaros da música Os Homens Vão Chegar, você vai falando um monte de pássaros, um atrás do outro, aqueles nomes todos. Aí você foi pesquisar no dicionário nomes de pássaros todos? Ali fui, claro, na velha e boa enciclopédia. JOSÉ ARBEX JR. - E as mulheres, como desce o espírito das mulheres? Mas foi o que falei para o Plínio, muitas dessas mulheres são personagens de teatro. Agora mesmo, nesse disco, tem uma canção no feminino, porque é uma personagem de um filme e me foi encomendada uma música. JOSÉ ARBEX JR. - Mas, se alguém encomendar “faça um personagem x, y, z”, vou ficar olhando para a cara do sujeito e dizer: “Tá bom, me procura daqui a um ano”.
_40/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Sou compositor, é a minha profissão, não é? PLÍNIO MARCOS - Você, que é um bom contador de história, qual foi o mais ridículo censor que você encontrou na sua carreira de censurado, perseguido? Tem histórias? Na verdade, não tinha muito contato com o censor. Os poucos contatos que tive com censor foram durante temporadas de show. Aí o censor aparecia e, às vezes, se apresentava, iam lá atrás. Nunca tive contato com censor de texto, de música. No caso das músicas, quando iam para Brasília, tinha um advogado da gravadora que ia tratar disso. Às vezes, por exemplo, havia proibições parciais: “Tal letra só passa se você mudar esse verso”. Ele ligava de Brasília, aí eu: “Me liga daqui a dez minutos”. Não pode “nasci brasileiro”, aí daqui a dez minutos – essa deve ter sido dois minutos, porque eu podia ter pensado um pouquinho mais: “Põe batuqueiro” (risos). Eu estava com pressa, porque podia ter pensado uma coisa melhor (risos). Mas havia essa pressa, o cara tinha de voltar no dia seguinte. Havia toda uma pressa industrial em gravar o disco, e aquilo atrapalhava a mim, sim, mas atrapalhava a indústria do disco também. Era uma complicação danada. CARLOS TRANJAN - Eles faziam sugestões? Sugestões como “põe essa palavra no lugar de outra” não. Não chegaram a esse ponto. Mas era assim: “Muda tal palavra”. Aí você mudava para dar o prazer. Eles queriam sentir a satisfação de ser acatados enquanto autoridade. Havia um exercício de poder. Muitas vezes alterei, aí tive mais de dez minutos, com versos melhores. Mas estava alterando, eles ficavam satisfeitos. “Bom, o sujeito obedeceu”. Aconteceu várias vezes, em muitas músicas. Outras, não: proíbem “Teus pelos atrás da porta”, bota o “teu peito”, empobrece. Mas aquela outra até era do Vinicius, eu gostei da minha solução: “Pede perdão pela
omissão um tanto forçada”, aí eu pus “pela duração dessa temporada”. Achei que ficou melhor (risos). A outra, O Meu Amor, tinha uma coisa assim também (cantarola): “Me deixar em brasa...”, não lembro o que era, também foi proibida, aí botei (cantarola): “Desfruta do meu corpo, como se o meu corpo fosse a sua casa” – vem cá, ficou melhor (risos). JOHNNY - Quando você consegue atingir o feminino com essa propriedade toda é um estado de paixão, você está vivendo uma paixão, é você viver nesse estado constantemente? Não, a paixão você inventa. JOHNNY - Mas é a paixão pelo feminino, por uma mulher, você está apaixonado por essa mulher. É essa paixão assim ou não é? Não necessariamente. Há uma coisa parecida com isso, mas não precisa ser real. São paixões que você inventa também. Você entra em um estado de paixão, como você falou, essa paixão não precisa estar aí. JOSÉ ARBEX JR. - Mas você decide, “vou inventar uma paixão”? É, faço certo esforço... (risos) JOSÉ ARBEX JR. - Como você inventa uma paixão? Mas inventa, ué. Se você falar a prática, você não fala nada.
Nunca tive contato com censor. No caso das músicas, quando iam para Brasília, tinha um advogado da gravadora que ia tratar disso. Às vezes, por exemplo, havia proibições parciais: “Tal letra só passa se você mudar esse verso. muda tal palavra”. Aí você mudava para dar o prazer. Eles queriam sentir a satisfação de ser acatados enquanto autoridade. Havia um exercício de poder. Muitas vezes alterei, aí tive mais de dez minutos, com versos melhores. Mas estava alterando, eles ficavam satisfeitos. “Bom, o sujeito obedeceu”. Aconteceu várias vezes, em muitas músicas.
PLÍNIO MARCOS - Entre um jogo de botão e outro, você batia uma punhetinha. Porque aí entrou essa riqueza. É possível, sabia que tem um certo tesão em jogar botão sozinho? (risos) Um certo vício solitário, aos 14 anos, acho que no intervalo... JOSÉ ARBEX JR. - Esse negócio de inventar paixão é meio contraditório, porque a paixão, por definição, é um sentimento que te
\41_
#02_ Chico Buarque
assalta, te possui. Ela te joga para determinadas atitudes extremadas, eventualmente. Quando você diz “eu invento a paixão”, numa certa forma, você está dizendo “eu controlo o meu estado apaixonado”. Mas a paixão é a antítese do controle. Como você pode exercer esse controle sobre estar apaixonado? Mas eu não disse que controlo essa paixão. Disse que invento uma paixão e me envolvo, fico apaixonado.
falei, não tem de ser um nome assim, só isso. Simplesmente.
JOSÉ ARBEX JR. - Então você controla... Não, não, não. Puxo por ela, é diferente. E ela às vezes vem, às vezes não vem. Não preciso estar voltado para uma pessoa, é isso. A paixão começa a existir dentro da tua imaginação. Às vezes, é a paixão pela coisa que você está fazendo.
JOSÉ ARBEX JR. - Olhos nos Olhos.
JOSÉ ARBEX JR. - Quando você compõe Ana de Amsterdã ou Bárbara, te vem uma figura concreta de personagem feminina ou é uma coisa abstrata? Aí vinha porque eram personagens de uma peça de teatro. Ana de Amsterdã e Bárbara existiam enquanto personagens na dramaturgia. As músicas surgiram depois.
ANA MIRANDA - Exatamente. Quando fiz aquilo, tudo bem, mas quando ouvi... aí me assustei (risos).
SÉRGIO DE SOUZA - Você tem agora a Cecília. Também é fruto da imaginação? Cecília é mais simples ainda. Cecília é simplesmente o nome que corresponde ao que ele está falando. É um nome que não se diz, é um nome que se sussurra, é um nome que se cicia. Cecília é isso. Então ele está falando de uma paixão de um nome que não pode ser pronunciado ou que não deve ser pronunciado, um nome que é soprado, que é sussurrado. A música já estava quase toda pronta e não tinha esse nome. Eu queria um nome para essa canção. A música é feita de parceria com o Luís Cláudio Ramos. Aí eu perguntei para o Luís Cláudio: “Qual é o nome da tua namorada?”– para ver se cabia, mas não cabia na coisa. Aí
_42/
18 entrevistas _ revista caros amigos
PLÍNIO MARCOS - É um truque. É, às vezes é um truque. ANA MIRANDA - Tem aquele também da mulher que é abandonada pelo cara e, de repente, fica felicíssima. Isso, para as mulheres, é a coisa mais maravilhosa que tem.
ANA MIRANDA - É (cantarola) “e sentir que sem você eu passo bem demais”. Acho que aí você conquistou uns oito milhões de mulheres. Eu me apunhalando em praça pública (risos).
JOSÉ ARBEX JR. - Quando você compunha com o Tom, vocês discutiam sobre a letra da música? Você lia, ele propunha alterações? É, porque o Tom tinha muito isso de ficar captando, e ficava mudando a letra depois de pronta. E eu tinha de ficar brigando com ele: “Não, é assim”. “E se fosse assim e tal...” Havia umas briguinhas ótimas com o Tom. Mas, quando chegava a letra pronta, já estava pronta para mim, porque eu não fazia ali no calor da hora. Ele me dava a música... E assim é com todos os parceiros. Levo aquela música para casa, burilo, burilo, quando entrego, não entrego rascunho. Tenho horror de mostrar rascunho. Então, quando tá pronto, estou convencido de que vai ser aquilo. Vai ser difícil o sujeito mudar. Se tiver alguma coisinha, até aceito, mas com o Tom consegui segurar direitinho. Às vezes, acontecia isso, depois de pronta a letra, aí ele mudava a música. Eu dizia: “Mas, ô Tom, eu fiz a letra
Nos anos 70, eu falava mais frequentemente com a imprensa do que hoje. Havia assuntos pontuais aos quais eu era chamado a me manifestar e eu respondia. Havia, talvez, na época, interesse comum, porque de certa forma eu representava alguma coisa contra a censura, e a imprensa era vítima de censura também. para aquela música” (risos). Mas eu não podia fincar pé, porque a música era dele. PLÍNIO MARCOS - Vem cá, você se ligou tanto em Noel Rosa, não se ligou em Wilson Batista? Também. Noel, Wilson Batista, Geraldo Pereira. Naquela época, antes da bossa nova, eu ouvia isso tudo. Ouvia muito Ataulfo Alves. Eu reconheço alguma coisa desses autores todos nas minhas músicas. REGINA ECHEVERRIA - O que você achou de a Veja ter pedido para você pendurar a chuteira? A Veja pediu para eu pendurar a chuteira? REGINA ECHEVERRIA - Você não leu a crítica da Veja? Eu li. REGINA ECHEVERRIA - Que está na hora de pendurar a chuteira. Você não viu isso? Não me lembro exatamente disso, mas é simpático (risos). Li a entrevista uma vez só, não entrevista, era uma matéria. Li as matérias todas, então posso estar misturando uma coisa com outra. A da Veja era um pouquinho precipitada (risos).
REGINA ECHEVERRIA - Eles foram para o lado pessoal. É, e o trabalho de pesquisa não foi muito feliz. Eu soube que eles estavam procurando muita gente. Mas as pessoas, acho que têm dificuldade de falar com a Veja. Muita gente me falou: “Ah, me procuraram pela Veja, mas preferi não falar”. Por algum motivo, não quiseram falar com a Veja, então aí o trabalho de pesquisa deles ficou meio prejudicado, porque li que falava do maître de um restaurante que dizia que eu tomava isso, que tomava aquilo. Se preocuparam muito que eu beba ou não beba nessa matéria. E o maître falava isso... Só que é maître de um restaurante que não frequento, um tal de Dom Camilo, lá em Copacabana. Fui uma vez porque era perto da casa da minha mãe, há muito tempo. Aí ele falou que fiz seis anos de análise para largar a bebida. Nunca fiz seis anos de análise (ri) e não larguei a bebida (risos). JOHNNY - Mudando de pato pra ganso, como é a sua ligação com Deus, com Cristo? Porque, de repente, em algumas músicas suas vejo uma oração, uma coisa assim contemplando a vida... Não, não tenho preocupação religiosa maior. Não vejo isso... Talvez haja algum lado de contemplação. Músicas que falam diretamente da natureza, há alguma coisa contemplativa aí. Mas Cristo, não sei. ANA MIRANDA - Frei Betto faz a intermediação (risos). Frei Betto cuida desse pedaço. SÉRGIO DE SOUZA - Voltando a essa coisa de imprensa, deve ter havido um estremecimento, que você ficou desagradado, parece, por matérias que publicaram há anos, e ficou meio na defensiva, evitando a imprensa? Já me aborreci bastante com a imprensa, mas o
\43_
#02_ Chico Buarque
que me levou a ficar afastado ultimamente não era isso, era porque eu estava gravando, não tinha nada para falar. Estou no meio do disco, no meio de um livro, não tenho o que dizer. É a mesma coisa que mostrar um rascunho, não mostro rascunho nem para os meus parceiros. Então estou numa fase de rascunho. Falar o quê? Dar uma entrevista para a imprensa falando o quê? Aqui estamos conversando sobre diversos assuntos, mas o que está na ordem do dia é o disco que acabei de gravar, então tenho do que falar, principalmente se me perguntarem do meu último disco, que é o que está mais vivo aqui na minha cabeça, que talvez possa interessar ao leitor, de resto... PLÍNIO MARCOS - Você atingiu um nível que tudo que você fala interessa. Eu, por exemplo, fiquei muito interessado quando, na França, no meio de uma solenidade, te vejo com uma chuteirinha embrulhada na mão. Isso eu contei e as pessoas: “A chuteira! Numa solenidade!”. Eles ficam abismados, isso interessa. E isso se tem de descobrir perguntando ou vendo. Acho que tem de ter um jeito de falar quando se está escrevendo. REGINA ECHEVERRIA - Você dava muito mais entrevistas, não dava? Uma época você parou de dar, não é isso? Pode ser. REGINA ECHEVERRIA - Numa outra época, você se prestava a falar, dar opiniões sobre outras coisas fora a música ou os livros que você estivesse fazendo, não é? As pessoas se acostumaram a ler, a ver, a ouvir as suas opiniões, extra o seu trabalho. Você se pronunciava mais. Era um tempo que exigia isso? Talvez você se refira à época da censura, imagino que seja isso, anos 70. De fato, nessa época, eu falava mais frequentemente com a imprensa
_44/
18 entrevistas _ revista caros amigos
do que hoje. Havia assuntos pontuais aos quais eu era chamado a me manifestar e eu respondia. Havia, talvez, na época, interesse comum, porque de certa forma eu representava alguma coisa contra a censura, e a imprensa era vítima de censura também. Tínhamos um adversário comum, então de certa forma poderia haver um interesse da imprensa em me procurar. Depois disso, assim como pode haver uma simpatia por parte de jornalistas, ou órgãos de imprensa, há também uma antipatia muito grande. É uma balança, natural que exista. Aí comecei a ficar um pouco mais precavido em relação à imprensa. Um pouco mais cuidadoso, um pouco mais reservado. Muita coisa foi publicada desde então. Era um pouco como essa matéria que a gente estava falando agora da Veja, né? Muitas notícias improcedentes, muitas matérias que me desagradaram. JOSÉ ARBEX JR. - Vamos pegar o seu último disco, então. Você retoma o tema cidades, e disse que foi por acaso que surgiu o título. Um nome não surge por acaso. Você estava inventando esse tipo de fruição, quer dizer, o poeta fruindo a cidade, onde ele vai encontrar mitologias, histórias de amor, segredos. É essa a tua relação com a cidade hoje? A presença do Rio é notável no disco. Ele abre com uma canção que se chama Carioca e fecha com uma canção que fala da Mangueira. Quer dizer, tenho a impressão de que a minha relação com o Rio... JOSÉ ARBEX JR. - Mas com qual Rio? Você já disse que o Rio de que fala tua canção não existe. É o Rio visto por um sonhador. É um pouco o Rio que é a geografia do Benjamin ou mesmo do Estorvo. Que são cidades de sonho essas do meu disco, cidades que aparecem, cidades sonhadas, e o Rio não deixa de ser. Agora, é a cidade onde
vivo. Durante muito tempo, resisti à ideia de ser carioca. Morei muito tempo em São Paulo. Agora, parece que estou me estabelecendo no Rio depois de muito tempo. Tenho sim, claramente, mais tempo de Rio do que de qualquer outra cidade. Me chamavam de Carioca quando eu morava em São Paulo. SÉRGIO DE SOUZA - Na FAU? Antes da FAU, na rua era Carioca, mais até no colégio lá no Santa Cruz. Eu era o Carioca quando comecei a tocar violão. O Carioca que dava showzinho. O meu nome artístico era Carioca. PLÍNIO MARCOS - E Paris? Você tem campo lá, joga bola lá, tem time lá, está ficando parisiense? Mas nem um pouco. Gosto muito de viajar porque dá vontade de voltar (risos). Mas, quando estou escrevendo, por exemplo, estar fora do Rio é um bom negócio. Então, muitas vezes vou para Petrópolis e, parece esnobe, mas ir para Paris não é muito diferente do que ir para Petrópolis quando estou trabalhando. Porque fico num lugar tranquilo, o telefone toca pouco, os jornais não chegam, e ando na rua naturalmente. E ando muito quando estou trabalhando. Ando, caminho muito. A revista Veja diz que ando para vencer a depressão (risos). Nunca pensei que andar acaba com a depressão. Não sou dado a depressão, mas, quando estou um pouquinho caidaço, não dá vontade de sair da cama, não dá vontade de sair do quarto, não dá para andar na rua. Não imagino um sujeito deprimido andando. Pelo contrário, quando estou muito bem, me dá mais vontade de andar, ando até debaixo de chuva. Faz parte do meu processo criativo poder andar. Não é exagero. Quando quebrei a perna, fiquei três meses de cama, não conseguia escrever nada. Falei: “Bom, agora vou aproveitar, vou fazer músicas, agora que vou ficar deitado”. Não conseguia! E só sonhava que andava. Isso faz falta.
Não imagino um sujeito deprimido andando. Pelo contrário, quando estou muito bem, me dá mais vontade de andar, ando até debaixo de chuva. Faz parte do meu processo criativo poder andar. Não é exagero. Quando quebrei a perna, fiquei três meses de cama, não conseguia escrever nada. MARCO FRENETTE - Por falar em processo criativo, acontece de você começar uma composição com música sua e achar que aquilo serve mais numa frase do seu livro? Existe esse intercâmbio, de começar pensando em alguma coisa para o disco e virar um parágrafo de um livro, ou você divide isso perfeitamente? Preciso estar inteiramente dividido. Quando estou escrevendo, estou escrevendo... MARCO FRENETTE - Uma frase que você achou interessante fica anotada e depois fica para a música... Não, porque, se estou voltado para a música e aparecer uma frase que parece apropriada para a literatura, vou transformá-la em música. Vou desliteraturizar, porque não gosto de fazer literatura em música. Às vezes, pode até acontecer isso, surgir uma ideia que daria um bom tema, não lembro, mas pode acontecer, daria um bom começo de romance, mas na hora estou querendo fazer música, destruo aquilo, desconstruo de certa forma, e aproveito a ideia para música. Não guardo num escaninho para aproveitar mais tarde. Não há tempo, há uma certa urgência quando você está querendo fazer música. Todas as ideias você vai canalizar para aquilo.
\45_
#02_ Chico Buarque
JOSÉ ARBEX JR. - Quando escreve, você imagina um leitor, dialoga com um leitor imaginário? Não. O que tem é aquilo que falei no começo um pouco, o meu pai, outras pessoas que às vezes eu digo: “Isso tem a ver com fulano”. De certa forma, alguma coisa que escrevo estabelece uma ponte com algum autor que eu gostaria de ter ao lado naquele momento. Não dialogar, como quem diz “fulano gostaria disso, meu pai gostaria disso”. Nunca no sentido de eu achar que estou fazendo uma coisa parecida com esse autor, isso não acontece comigo em literatura, é engraçado. Por mais que eu admire quinhentos autores, se disserem “esse trecho parece com Shakespeare”, não vou ficar contente. É evidente que não me acho superior a nenhum desses autores, mas em elogio não me satisfaz. É engraçado isso, porque com música, se você disser “essa coisa lembra Debussy, isso lembra Tom Jobim, isso lembra Villa-Lobos”, fico altamente lisonjeado. Com literatura, isso não acontece. Parece que me sinto mais dono do que escrevo com literatura do que no caso da música. JOSÉ ARBEX JR. - Você se considera um perfeccionista? Sim. JOSÉ ARBEX JR. - Isso não briga com o prazer de escrever? Não, por que você acha que a busca da perfeição exclui o prazer? Pelo contrário, o prazer está exatamente nisso, nessa procura. Não estou entendendo qual é o conflito. JOSÉ ARBEX JR. - A hipótese de um conflito reside no fato de que, se você faz uma imagem de perfeição e vai depois medir aquilo que escreveu, de acordo com os parâmetros dessa imagem de perfeição, pode ser uma experiência frustrante, não?
_46/
18 entrevistas _ revista caros amigos
De certa forma, alguma coisa que escrevo estabelece uma ponte com algum autor que eu gostaria de ter ao lado naquele momento. Não dialogar, como quem diz “fulano gostaria disso, meu pai gostaria disso”. Nunca no sentido de eu achar que estou fazendo uma coisa parecida com esse autor, isso não acontece comigo em literatura, é engraçado. Por mais que eu admire quinhentos autores, se disserem “esse trecho parece com Shakespeare”, não vou ficar contente. É evidente que não me acho superior a nenhum desses autores, mas em elogio não me satisfaz. É engraçado isso, porque com música, se você disser “essa coisa lembra Debussy, isso lembra Tom Jobim, isso lembra Villa-Lobos”, fico altamente lisonjeado.
Bom, aí, sim, você, quando termina um livro, naquele momento acha que não há nada mais a ser mexido. Você já mexeu ou acrescentou a última vírgula e tal... Você tem consciência do teu limite! Você sabe que dentro da tua capacidade naquele momento não há nada melhor a ser feito. A minha perfeição, quer dizer, a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro... REGINA ECHEVERRIA - ...da seleção. Da seleção (risos). Naquele momento, eu não posso melhorar mais. Mas esse sentimento é altamente favorável a você mesmo. Você que está pertíssimo da perfeição (risos). Agora, se você colocar na gaveta e daqui a dois anos for mexer naquilo, evidentemente você vai mudar, mas, se for assim, você não termina nada. Não termina nem uma música, nada. Terminei o disco há um mês e já tem coisas ali que, agora, olhando: “Pô, gostaria de ter feito diferente”. E coisas que mexi que não deveria ter mexido, antes estava melhor. Acontece isso. PLÍNIO MARCOS - Já que estamos falando em imaginação, você, quando está sozinho, lembra dos gols que fez? Mas sem parar (risos). Na hora de dormir, passam esses videoteipes todos. PLÍNIO MARCOS - E no meio aparecem umas mentiras, né? (rindo) Mas muitas, porque às vezes tem teipe mesmo. Outro dia, lá no estúdio, mostraram o teipe de uma pelada que a gente fez. Os músicos contra os técnicos do estúdio. Eu falei, “Mas está em câmera lenta? Porque eu não jogo assim!” (risos). Nos meus “videoteipes” particulares, a coisa é mais rápida (risos). MARCO FRENETTE - Que destino foi dado à biblioteca do seu pai? Continua com a família? Não, está na Unicamp. Ficou até muito bom.
Eles reconstituíram o escritório do meu pai, esse ao qual eu não tinha acesso (risos), com a poltrona, a máquina de escrever, os livros. Nesse posso entrar sem bater na porta... (risos) CARLOS TRANJAN - Até uma certa idade você não pôde entrar na biblioteca. Quando foi que conseguiu entrar mesmo? Eu entrava e saía de fininho. Entregava coisas para ele ler, ia para o quarto, ficava lá, paralisado, duro, e depois voltava. E aí meu pai dizia: “Tem de trabalhar mais, tem de ler mais, lê isso, lê aquilo e tal”. JOSÉ ARBEX JR. - Por isso, um texto teu não pode parecer com o de mais ninguém, e a música pode. Fazendo uma interpretação psicanalítica no “caso Chico Buarque de Holanda” — já virou um caso clínico — (risos), é mais ou menos como se um texto teu fosse um passaporte para a tua relação com o teu pai. Não pode se confundir com o texto de mais ninguém, nem de Shakespeare. Gostei disso (risos). MARCO FRENETTE - Li uma história que um dia você pegou um livro raro da biblioteca do seu pai e ficou andando com ele pelos corredores da faculdade... Tomei um esporro do Flávio Motta (professor de História da Arte na FAU e pintor) porque era o Macunaíma, autografado pelo Mário de Andrade para o meu pai, primeira edição. Eu estava lendo e, aquela coisa, vida de faculdade, você ia para o grêmio, bebia e tal. E o Flávio Motta: “O que você está fazendo com esse livro, rapaz?” E, esses livros, alguns não estão na Unicamp, ficaram com a família. Tenho O Grande Sertão, primeira edição autografada, dedicada ao meu pai. Tenho Vidas Secas, História da Música Brasileira, do Mário de Andrade, tenho Oswald de Andrade, algumas
\47_
#02_ Chico Buarque
primeiras edições com autógrafo para o meu pai. Tenho Estrangeiro, do Camus, dedicado à minha mãe, quando ele esteve no Brasil. Esse eu roubei da minha irmã (risos). CARLOS TRANJAN - Quais são suas paixões literárias brasileiras, ou são muitas? Machado, Guimarães Rosa? Se for enumerar agora o que li, o que gostei, o que me marcou, vai ser um catálogo sem fim. O que acontece é que, periodicamente, ou episodicamente, retomo alguma leitura dessas. A última que retomei, não faço sempre, mas foi porque estava procurando alguma coisa para a canção dos sem-terra, foi o Guimarães Rosa, que não lia havia muito tempo. E aí comecei a ler como se não tivesse lido, porque eu não lembrava. Lembro de coisas assim vagas, soltas, uma aqui, outra ali, uma imagem, uma coisa assim. Mas é um horror isso, porque tem tanta coisa para ler, principalmente o que você já leu, não tem fim. Então, não sei. Machado de Assis não leio há muito tempo. De repente, amanhã posso entrar nessa viagem, começar a reler tudo. Vou reler como se estivesse virgem de Machado de Assis. JOSÉ ARBEX JR. - Você tem saudade da FAU? Qual é a tua relação com São Paulo hoje? O que você sente por São Paulo? Já não sei andar muito em São Paulo. A São Paulo que conhecia era pequena. Na verdade, a minha geografia se restringia a Pacaembu, Higienópolis e rua Haddock Lobo, onde passei minha infância, os Jardins. Era muito andar, e o que eu andava aquilo a pé, antes de ser um homem deprimido (risos). Andava muito ali no Pacaembu, onde eu morava, para qualquer canto desses. Tinha uma namorada que morava lá perto de onde hoje é o Masp, não existia o Masp... PLÍNIO MARCOS - Você pegou o bonde ainda?
_48/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Peguei, do Santa Cruz (colégio), no Alto de Pinheiros, ia de bicicleta e subia a Rebouças “chocando caminhão”, como se diz. Subia a Rebouças agarrado num caminhão. Muita bicicleta. Eu me lembro de ter ido ao Morumbi, que estava em obras, ainda não estava pronto, de bicicleta. E o pneu estourou naquela ladeira que desce para o Morumbi, e voltei a pé carregando aquela bicicleta (risos). Quilômetros e quilômetros. Hoje, quando vou a São Paulo, já fico em hotel, já sou visita, não é? JOSÉ ARBEX JR. - Você nunca mais voltou para a USP, a FAU, visitar, não te dá saudade? Olha, não sou muito de curtir passado, não. A FAU minha era a da rua Maranhão. A da Cidade Universitária não conheci. Mas, dizer que gostaria de ir lá hoje, não tenho a menor vontade de ver como está aquilo. REGINA ECHEVERRIA - A tua casa continua à venda. Passo todo dia e vejo a placa. Alguém deveria comprar aquela casa, montar alguma coisa ali. Mas não é mais de vocês, não é? Ainda é da família, sim. Tinha uma ideia do Fernando Morais, que era secretário da Cultura, de fazer uma casa que servisse como local de pesquisa para historiadores. Instalar lá alguma coisa assim. Mas depois não deu em nada. SÉRGIO DE SOUZA - Você não gosta de voltar ao passado, mas o passado não tem escapatória. Você falou de uma namorada, você teve quantas paixões, se posso perguntar isso, dessas arrasadoras? Não sei... (risos) JOSÉ ARBEX JR. - Não inventadas, bem entendido, inventada não vale. De repente, você não sabe o que é inventado e o que não é, né?
O que acontece é que, periodicamente, ou episodicamente, retomo alguma leitura dessas. A última que retomei, não faço sempre, mas foi porque estava procurando alguma coisa para a canção dos semterra, foi o Guimarães Rosa, que não lia havia muito tempo. ANA MIRANDA - Tenho conversado muito com a garotada e eles reclamam muito que são “os herdeiros do vazio”. Quer dizer, na nossa geração, a gente teve a luta política, até citam você: “Vocês tiveram Chico Buarque, tiveram a luta política, tiveram Che Guevara, tiveram um Darcy Ribeiro”. E, realmente, foi uma época fabulosa em termos de produtividade, criatividade, revolução no mundo ocidental inteiro, e o oriental um pouco também. Mas, agora, parece que está muito fechado para os jovens. Você tem essa sensação também quando conversa com o jovem? Muito. E esse tipo de emigrante vejo muito por lá, em congressos, por exemplo, garotos brasileiros de Minas Gerais, em Paris, fazendo serviço de pedreiro. De repente, o cara é brasileiro, começo a conversar. “O que você está fazendo aqui, e tal”. E é um emigrante sui generis o brasileiro, é classe média. Esses eram de uma família de comerciantes bem instalada no interior de Minas e, de repente, não têm nenhuma perspectiva profissional ou pessoal. De repente, aquilo é uma aventura. Foram para a Espanha, depois para a Itália e acabaram se estabelecendo em Paris, e fazem esses serviços, às vezes clandestinos. Garotada assim, amigos de filhas minhas, está a mesma coisa. Vão para lá ou para os Estados Unidos, e vão pegar no serviço pesado. Lavar chão, como
essa Iracema que voou para a América, ou são garçons. Coisas que não fariam aqui no Brasil vão fazer lá fora. É curioso, porque o brasileiro pobre mesmo não emigra. Não existe isso, eles não sabem o que é um passaporte. ANA MIRANDA - Você acha que isso tem uma conotação muito íntima com a situação política, a situação econômica, com a política econômica dos últimos governos? Tem a ver com isso tudo. Com a falta de perspectiva de emprego em relação a um tempo atrás, a facilidade até com que você consegue um diploma, mais a péssima qualidade de ensino. Você está diplomado, mas não está habilitado a exercer a profissão. A triagem que existia antigamente no vestibular hoje foi adiada para depois da faculdade. E daí? O sujeito está formado numa faculdade qualquer aí, e vai fazer o quê? Nada. Mas não é só isso. Também é a falta de perspectiva pessoal. JOSÉ ARBEX JR. - Você vai ter ou já tem o site oficial na internet? Já tem. JOSÉ ARBEX JR.- Você navega na internet? Não. JOSÉ ARBEX JR. - (ri) Eu estava desconfiado. Você sabe entrar na internet, sabe consultar o teu site, por exemplo? Não, não tenho internet em casa. REGINA ECHEVERRIA - Você escreve em computador ou máquina? Escrevo em computador, uso aquele básico para texto. ANA MIRANDA - Você tem um modem para e-mails, essas coisas ou não? Não.
\49_
#02_ Chico Buarque
ANA MIRANDA - Nem e-mail você usa, é um sortudo (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Você não tem curiosidade de entrar na internet, saber o que está rolando? Tenho muita, mas vou ficar horas naquilo (risos). Esses joguinhos aí, fico brincando antes de entrar no redator, fico jogando paciência e perco um tempão. Aí, se eu começar a brincar de internet... Sei que é útil para pesquisa, mas prefiro não ter. Vou lá na minha enciclopédia, porque tenho certeza de que iria ficar preso e viciado mesmo. SÉRGIO DE SOUZA - Você participou da última campanha do PT de alguma forma? Participei apoiando o Lula, o Cristovam Buarque, o Olívio Dutra. SÉRGIO DE SOUZA - Mas fez algum trabalho ou simplesmente apoiou? Como, trabalho? SÉRGIO DE SOUZA - Participando de algum comício ou... Não, não cheguei a esse ponto. Gravei mensagem para a televisão, fui a um evento lá em São Paulo do PT, enfim... E votei, não só no PT, aliás, meu voto foi amplo, aqui no Rio de Janeiro foi no PT, PDT, PSB e PV (risos). Porque é isso o que vejo. Está se anunciando aí de novo, como possível, e acho que é o que interessa, uma aliança suprapartidária. Não me interessa muito o discurso partidário. Sempre fui um pouco avesso a isso. Com o próprio PT, sempre tive problemas muito grandes. Já falei isso. O PT é o partido onde estão os melhores quadros do Brasil e os maiores chatos (risos). E é uma coisa que tem de ser contornada. Fico com uma pena do Lula e do trabalho que ele tem. Os adversários de fora e os adversários de dentro. O trabalho que essa gente dá ao PT! Um dia, conversando com um pessoal do Espírito Santo, falávamos do trabalho que
_50/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dá eleger um governador como o Buaiz e daqui a pouco ser impossível governar com o PT. Isso tem que ser resolvido através de uma aliança. JOSÉ ARBEX JR. - E o que está acontecendo com o Pinochet? O que você acha do pedido de prisão dele? Acho que o julgamento, de certa forma, já aconteceu. Eu estava em Paris quando ele foi preso. JOSÉ ARBEX JR. - E a comparação que fazem dele com o Fidel Castro? É uma comparação engraçada, porque são trajetórias absolutamente opostas, não é? A começar pela origem. Tem que comparar primeiro Batista com o Allende. Como é que o Batista ascendeu ao poder, como o Allende ascendeu ao poder, como um caiu, como o outro caiu. Qual era a função do Pinochet quando era ministro do Exército, quer dizer, o homem de confiança do Allende, e o que era o Fidel. Outro tipo de argumentação que leio bastante é “que, apesar de tudo, o Pinochet abriu o Chile para a economia mundial e foi um sucesso a política econômica do Pinochet, e Fidel Castro fechou o país e a economia de Cuba é um grande desastre”. Você pode comparar a economia de Cuba com o Chile. Você pode comparar a economia de Cuba com a Nicarágua, Honduras, países que estão lá próximos, mas não há possível correlação de riquezas naturais, potencial. Depois, pode também tentar não falar apenas em sucesso econômico e tentar enxergar um pouco o que foi conseguido em Cuba, um país muito pobre, em outros termos. Em termos do que todo mundo já sabe, de medicina, de saúde pública, de educação, de pesquisa científica, é um fenômeno. SÉRGIO DE SOUZA - Sem contar o bloqueio. Pois é, aí entra na história quem são os adversários que o Fidel teve de enfrentar esse tempo
todo, desde o começo, principalmente a partir de 61. E, ao contrário, com que facilidade Pinochet subiu ao poder, com o apoio de quem ele subiu ao poder, entende? PLÍNIO MARCOS - Mas me deixa um pouco triste a gente ver o Fidel abraçando Antônio Carlos Magalhães, Fernando Henrique... Tem de tentar romper de alguma forma o isolamento em que ele se encontra, não é? ANA MIRANDA - Ele foi visitar o Lula também. Foi visitar o Lula também. Tem de ter boas relações com o governo brasileiro, senão, meu bem... José Arbex Jr. - Por outro lado, é impressionante a paralisia da esquerda brasileira. Pinochet preso lá e não houve nenhuma manifestação exigindo que o Fernando Henrique Cardoso peça a punição dele. Esse tempo, quando ele foi preso, eu, lá em Paris, perguntava no telefone: “E aí, o que está dando aí no Brasil?”. E o governo brasileiro parece que pelo menos não assinou um documento do Frei para o Brasil falando de imunidade etc. SÉRGIO DE SOUZA - E o que a gente pode esperar nos próximos dois anos ou no próximo ano, com esse governo reeleito? Que tipo de expectativas você tem em relação ao governo brasileiro, diante do quadro atual? Realmente, não sei. Não sei, porque agora começa um novo governo não só porque houve uma reeleição, mas começa um novo governo porque não há mais a preocupação com a reeleição, que foi o que praticamente conduziu o governo nos últimos meses. Agora caiu na real, veio esse pacote de restrição. Os efeitos sociais e políticos desse pacote a gente vai sentir daqui a pouco. Não sei até que ponto vai permanecer esse alinhamento do PSDB com o PFL, não sei o que vai acontecer... não sei.
O PT é o partido onde estão os melhores quadros do Brasil e os maiores chatos (risos). Fico com uma pena do Lula e do trabalho que ele tem. Os adversários de fora e os adversários de dentro. O trabalho que essa gente dá ao PT!
JOSÉ ARBEX JR. - Como rolou a história do MST? Quem te procurou, o Sebastião Salgado? Foi o Tião Salgado. JOSÉ ARBEX JR. - Aí vocês contrataram o Saramago, e rolou a coisa? Foi tudo o Tião, o Salgado. Já me trouxeram mais ou menos um esboço do que seria o livro (Terra), algumas fotos, não estava ainda todo montado. E me fez a proposta, e depois ele falou com o Saramago. JOSÉ ARBEX JR. - É impressionante que você pode quase fazer uma justaposição de discurso — se você pegar o que os generais falavam dos estudantes, dos que faziam manifestação durante a ditadura, “comunistas, subversivos, estão querendo bagunçar o país etc.”, e pegar o que o Fernando Henrique fala dos sem-terra, dá uma justaposição perfeita. Aquilo que o FHC falou dos sem-terra é o que os generais falavam de quem fazia greve ou passeata nos anos 60/70, o mesmo discurso: “Os sem-terra são desordeiros, querem bagunçar o país...”. SÉRGIO DE SOUZA - Plantam maconha... Plantam maconha acho que foi um general que falou, né?
\51_
#02_ Chico Buarque
SÉRGIO DE SOUZA - Você não gosta de fazer crítica ao governo, né? Ou ao Fernando Henrique diretamente? Não ao Fernando Henrique diretamente, não me interessa estar fazendo crítica... SÉRGIO DE SOUZA - Como governante, como presidente. Porque acontece o seguinte: como tive uma relação mais ou menos próxima com o Fernando Henrique, tudo o que eu disser sempre pode ser conduzido para uma questão pessoal, e isso estou sempre procurando evitar. Porque essa coisa, aqui no Brasil, é muito... Não porque é no Brasil, acho que é porque tivemos durante muitos anos ditadura e generais que viviam naquele mundo fechado. Como havia pouco acesso, ninguém sabia o que pensava um general tal, general qual. Depois do Sarney, do Collor, do Itamar, finalmente, aparece um cidadão conhecido da mídia, conhecido do mundo acadêmico, conhecido de artistas, de intelectuais, onde parece que há uma intimidade. Todo mundo conhece Fernando Henrique. Outro dia chegou um paulista para mim: “Ué, por que é que você se afastou do Fernando?”. Perguntei: “Que Fernando?” Porque conheci Fernando Henrique e nunca chamei de Fernando. Meu pai, professor dele, nunca vi meu pai falar “Fernando”. Agora, as pessoas já estão daqui a pouco “Fernandinho”, “Fê”, e fica uma promiscuidade aí, e um julgamento muitas vezes favorável também, em que entram em consideração as virtudes pessoais, a simpatia, o charme, não sei o que do Fernando Henrique – isso não interessa, não interessa se gosto, não gosto, se gostava, deixei de gostar. E sempre há uma certa tendência de colocar em termos pessoais uma divergência que eu possa ter com o governo, e não é. Não é! Uma pessoa que nunca mais vi, o Fernando Henrique. Vi a última vez um pouco antes da eleição. Minha divergência com ele não é, de forma alguma, pessoal.
_52/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Porque acontece o seguinte: como tive uma relação mais ou menos próxima com o Fernando Henrique, tudo o que eu disser sempre pode ser conduzido para uma questão pessoal, e isso estou sempre procurando evitar.
REGINA ECHEVERRIA - Mas é pessoal dele quando fala mal da sua música. Bem pessoal quando fala do seu trabalho. Sim, mas ele não tem resposta minha. SÉRGIO DE SOUZA - Eu estava perguntando para saber se você tem uma crítica ao governo, ao modelo. Só estou falando isso porque há uma insistência. Fernando Henrique, Fernando Henrique, Fernando Henrique, Fernando Henrique. SÉRGIO DE SOUZA - Eu não estava ligando as pessoas, não uma coisa pessoal, acho isso uma coisa muito fechada para o leitor... Você perguntou se eu não gostava de falar mal... SÉRGIO DE SOUZA - Uma decepção, se é uma coisa que você pode ter acreditado no começo que seria a solução para o país, e o encaminhamento todo te decepcionou, se você está esperando um Brasil pior ou melhor... Nunca fui muito otimista em relação ao Fernando Henrique, desde as eleições de 94. Falei isso na época. Acontece que, quando ele foi eleito, aí desejei boa sorte, me perguntaram, eu falei: “Não, vamos dar um tempo, vamos ver o que vai ser isso”. Mas já desde aquela primeira greve
dos petroleiros, falei: “Epa! Não é o que eu estava torcendo para que fosse, é mais o que eu estava temendo que acontecesse”. SÉRGIO DE SOUZA - E agora você vê saídas para o Brasil? Estou imaginando um desastre nacional, breve, estou sentindo isso até dentro da própria editora, desse tamanico. O Brasil mesmo, como você está vendo? Estou assustado com essa coisa toda. A gente vê as notícias que a gente tem, que invocam gente próxima e tal... A TV Globo demitiu não sei quantos, a TV Globo! Altos funcionários. Para onde é que vai? E estou falando aqui perto de mim, do ambiente que tenho frequentado ultimamente, pessoal de gravadora, está todo mundo assustado, não é? JOSÉ ARBEX JR. - A gente estava querendo que você desse uma declaração explosiva. Sabe o que é? Não vou explodir. O que me dá um certo fastio na questão política é que qualquer coisa que eu diga já me ouvi dizendo, não tenho nada de novo a dizer. SÉRGIO DE SOUZA - Então não tem nada que esteja te enchendo o saco na questão da política? O que acho mais chato em entrevista é quando leio e me vejo repetindo, porque as perguntas às vezes são as mesmas, e em relação ao governo vou repetir o que falei na primeira campanha. Me perguntaram por que eu votei no Lula, e respondi: “Voto no Lula porque prezo muito o Fernando Henrique Cardoso, prezo muito diversos quadros do PSDB e acho que no governo do Lula eles teriam lugar. O PT não vai governar sozinho, enquanto que, se voto no Fernando Henrique, estaria votando no governo do PFL”. Falei em 94 e na época ele disse: “O Chico está equivocado”. Disse que o meu voto era sentimental, mas acho que eu não estava equivocado, não.
MARCO FRENETTE - Voltando à produção musical, tem algum disco que você considere mais feliz em termos de música? Não, gosto deste. Normalmente, a gente gosta do que está fazendo, não é? JOSÉ ARBEX JR. - A Clarice Lispector declarou várias vezes a paixão dela por você. Isso é com a Ana Miranda (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Por que com a Ana Miranda? Ela sabe disso mais do que eu. Ela sabe de coisas que eu não sei. JOSÉ ARBEX JR. - Isso ela declarou na imprensa, publicamente, nas crônicas etc. Vejo muito ponto de contato entre as tuas personagens, principalmente femininas, e o universo da Clarice. Você vê isso? Pode ser, adoro a Clarice Lispector. Não sei se os meus personagens femininos têm a ver com ela, isso eu nunca tinha pensado. Mas, naquela lista que não fiz de autores que me marcaram até hoje, a Clarice está. Há pouco tempo, inclusive, reli e notei algumas coisas, porque é o seguinte: tenho a impressão de ter lido a Clarice antes da hora. Quando conheci a Clarice, não entendia direito o que era a Clarice, nem a literatura dela, e outro dia comecei a ler e anotei várias coisas do Água Viva. Notei coisas que esse livro, que já estava manuseado, eu mesmo já tinha lido aquele exemplar com o autógrafo dela, reli e falei: “Mas que coisa! Nunca tinha percebido isso!”. Que coisa maravilhosa as observações dela sobre a escrita inclusive, coisas que anotei, tinha uma de pescar as palavras, não lembro exatamente como é que era. Aquilo anotei. E é isso, tive um contato com ela pessoal sem, na verdade... Se tivesse a dimensão da Clarice Lispector naquela época, teria mais pânico do que tive porque ela era uma pessoa que me deixava um pouco assustado, gozado isso.
\53_
#02_ Chico Buarque
ANA MIRANDA - Você contaria publicamente aquela história que contou para mim, Chico? Eu conto! A minha versão é a versão real, a sua é que eu...
ciência, fiquei noites e noites sem dormir por causa disso (risos).
JOSÉ ARBEX JR. - Que versão é essa? Um dia, ela me convidou para jantar. Eu já tinha estado com ela algumas vezes, e ela me dizia algumas coisas meio desconcertantes. Saía da sala e dizia: “Escreve aí um poema”. Ia para a cozinha e voltava, e eu, que não escrevo poema, tinha de escrever, ficava um pouco assustado (os versos: Como Clarice pedisse/ Um versinho que eu não disse/ me dei mal/ Ficou lá dentro esperando/ Mas deixou seu olho olhando/ Com cara de Juízo Final). Aí ela me convidou para jantar e perguntei: “Clarice, posso levar uns amigos?”, para me cercar. “Pode, mas aqui na minha casa não tem bebida.” Eu estava no Antonio’s e falei com o Vinicius e com o Carlinhos Oliveira: “Vamos na casa da Clarice?”. “Vamos.” “Só que lá não tem bebida, então vamos beber aqui.” E a gente já foi bebido. Chegamos e ficamos lá, os quatro, conversando, conversando, quando deu uma hora da manhã, a gente: “Então, Clarice, boa noite” (ri). Não houve jantar. Saímos de lá e voltamos ao Antonio’s para comer.
ANA MIRANDA - Fiquei pensando: será que o Chico está bem nessa história? Uma coisa de consciência.
JOSÉ ARBEX JR. - E qual é a versão da Ana Miranda? Ficcionalizei esta história deles: eu tinha uma mesa já posta, e ela esperando o homem, que está esperando há anos, para jantar, os olhos, aquela coisa bem ficcional, aí ele chega trazendo uma outra pessoa, então eles sentam e ela fala umas loucuras. Invento coisas que a Clarice teria dito, o tempo vai passando, as horas e a conversa, e fica alternando entre o discurso interior dela e as coisas que as pessoas estão falando, até que eles vão embora e, no final, ela diz assim: “Esqueci de dizer que o jantar era eu!” (risos) Mas fiquei com uma dor de cons-
_54/
18 entrevistas _ revista caros amigos
JOSÉ ARBEX JR. - Por que abriu o segredo?
SÉRGIO DE SOUZA - Fiquei surpreso quando olhei a tua idade no jornal. Eles põem lá, “fulano de tal, 54”. Francamente falando, tomei um susto, não sei se todo mundo tomou. Você se vê com 54 anos, internamente, ou não? Eu me vejo, mas tendo a achar que 54 anos não é nada. Não tenho sensação nenhuma de estar envelhecido. Estou com a minha idade. Uma geração que está com 54 anos hoje é uma adolescência quase (ri). Falar nisso, tenho uma foto lá em casa, onde tem uma porção de autores de música, no apartamento do Vinicius de Morais, todos nós garotos e o Vinicius, um senhor. Aí fiz as contas, ele tinha 54 anos! (risos) Isso foi em 67. PLÍNIO MARCOS - Com toda sinceridade, com que idade você vai encerrar a sua participação como jogador de futebol? Vai dar a volta olímpica, vai ter festa de despedida, como vai ser? Rapaz, outro dia fui jogar aqui no Monte Líbano e tinha um jogador de 78 anos, e se mexia, ficava na frente assim... JOSÉ ARBEX JR. - Quando você vai jogar nesses lugares aqui no Rio é assediado pelo pessoal? Plínio Marcos - O beque marca ele (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Fora o beque, quando você anda na rua aqui no Rio, ou quando vai jogar, o pessoal te pede autógrafo?
Estou com a minha idade. Uma geração que está com 54 anos hoje é uma adolescência quase (ri). Falar nisso, tenho uma foto lá em casa, onde tem uma porção de autores de música, no apartamento do Vinicius de Morais, todos nós garotos e o Vinicius, um senhor. Aí fiz as contas, ele tinha 54 anos! (risos) Isso foi em 67. No Rio, está combinado que ninguém pede autógrafo para ninguém. Nas férias, aí começa esse negócio de autógrafo. Estranho quando estou dando autógrafo aqui no Rio, mas é o pessoal que vem de fora. JOSÉ ARBEX JR. - Você nunca fez uma música para o futebol? Fiz uma música chamada O Futebol, dedicada a Mané, Didi, Pelé e Canhoteiro. SÉRGIO DE SOUZA - Você tem assistido muito futebol? Não, nem gosto tanto assim de futebol. Gosto de jogar. CARLOS TRANJAN - Teu melhor fundamento qual é, o lançamento? Posso dizer que sou um jogador completo (risos). Passe, profundidade, passe em velocidade, drible em velocidade, chicote, se bobear, drible do elástico (risos). E menos um pouquinho finalização, gosto mais de servir. REGINA ECHEVERRIA - Você gostou da experiência de escrever para jornal sobre os jogos, na Copa? Gostei. Mas deu trabalho.
JOSÉ ARBEX JR. - Como é parir um texto jornalístico? Foi tranquilo para você ter horário para fechar e mandar... Na verdade, já fui meio calçado. Levei um artigo pronto, que publiquei da primeira partida, e o resto usei alguma coisa que já tinha escrito, mas não foi como tinha pensado. Começou a soar falso, porque estava preparado e na hora não acontecia (risos). As coisas cismavam de não acontecer como eu tinha previsto (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Você sentiu pânico em algum momento? Tem de fechar, escrever o texto, tem de mandar... Pânico, não. Me senti um pouquinho preso. Achei que ia passar um mês, 40 dias, me divertindo, vendo futebol, jogando bola, comendo, mas, na verdade, ficava quatro dias mais ou menos da semana preso, e assistindo, também tinha isso, assistindo um pouquinho preocupado com o que eu ia escrever depois. Então existia uma tensão a mais, não é? PLÍNIO MARCOS - Você não quer escrever uma coluna para Caros Amigos? Eu não gostaria mais de ter compromisso em periódicos. Foi só essa vez na Copa. Plínio Marcos - Seria um recurso grande. Você venderia mais revista, e a gente aumentaria o nosso ordenado. JOSÉ ARBEX JR. - Você está precisando de prestígio, está pendurando a chuteira... Obrigado, sinceramente. SÉRGIO DE SOUZA - Muitíssimo obrigado dizemos nós, foi ótimo. Não teve a explosão...
\55_
_56/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#03_ Leonel Brizola _
Julho de 2004
Patriotismo não me falta “Tenho uma resistência de fazer história, sabe, porque eu tenho a impressão de que aí já estou vivendo no passado, e eu não estou, estou nos meus projetos, vivendo no futuro.” Assim começava a entrevista de Leonel Brizola à Caros Amigos em agosto de 2000. Pela trajetória que o levara até ali e os passos que daria nesse futuro que antecipava - a despeito do que dissera e parafraseando Getúlio Vargas, responsável por conduzi-lo à política deixava a vida e entrava definitivamente para a história do Brasil quatro anos depois, aos 82. “Não somos todos ovelhas bem branquinhas e mansas”, costumava dizer ele, defensor das reformas de base de João Goulart, líder da campanha que garantiu a posse do então vice após a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e um dos mais ferrenhos opositores da ditadura. Não fugia de polêmicas. Inimigo declarado da família Marinho, em 1994, teve direito de resposta lido por Cid Moreira no principal telejornal da Globo, o Jornal Nacional. E, apesar da campanha contra que enfrentou na mídia, com a força de seus discursos nos palanques, foi eleito três vezes de forma direta a governador de dois Estados– Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro -, fato inédito na política brasileira. “Brizola farejava os caminhos, alguns exatos, outros não, mas todos coerentes”, afirmou Fernando Brito, seu assessor por mais de duas décadas, nos dez anos de sua morte. “Patriotismo não me falta, amor ao povo brasileiro não me falta, amor à humanidade também não, e, sobretudo, pureza de intenções”, resumiu ele próprio naquele agosto de 2000.
Leonel de Moura Brizola nasceu em Carazinho (RS) em 22 de janeiro de 1922 e morreu em 21 de junho de 2004 no Rio de Janeiro. Entrou para a política, no PTB, pelas mãos do então presidente Vargas. Foi deputado estadual e federal, prefeito de Porto Alegre e governador do RS (1959-1962) e do RJ (1983-1986 e 19911994). Foi cassado pelo AI-5 e exilado. Em 1980, fundou o PDT. Concorreu duas vezes à Presidência. Vice-presidente da Internacional Socialista em 1986, se tornou seu presidente de honra poucos meses antes de morrer. ENTREVISTADORES Marina Amaral Gilberto Felisberto Vasconcellos José Arbex Jr. Márcio Carvalho Wagner Nabuco Sérgio de Souza
\57_
#03_ Leonel Brizola
SÉRGIO DE SOUZA - O senhor é a história viva do Brasil, então gostaríamos de começar pela sua história. Vocês vão ter uma decepção. Eu tenho uma resistência de fazer história, sabe, porque eu tenho a impressão de que aí já estou vivendo no passado, e eu não estou. Estou nos meus projetos, vivendo no futuro. GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - Você não é Academia Brasileira de Letras que escreve e vai embora, não é? Bom, governador, e 2002? Se o governo nacionalista, patriota, chegar em 2002, como é que vai fazer para consertar esse estrago do Fernando Henrique? Eu considero que nós nos encontramos numa situação muito difícil, numa verdadeira encruzilhada. O Fernando Henrique foi um instrumento que surgiu – eles foram muito afortunados de topar com um indivíduo fraco, pusilânime, encantado com os salões do capitalismo e as oportunidades que o capitalismo lhe dava e completamente insensível às realidades físicas e humanas do nosso país. E levou o país a esse quadro que eu, sinceramente, revivendo um pequeno episódio, aquele das expropriações de duas empresas estrangeiras lá no Rio Grande do Sul, imagino o quanto será difícil para o país reverter. Vai ser com muita luta, porque, atrás dessas concessões aí, estão os interesses nacionais desses países. SÉRGIO DE SOUZA - Mas com que aliados contar nessa luta? Eu acho que, desde que haja uma unidade do povo brasileiro a esse respeito, ninguém nos vencerá. JOSÉ ARBEX JR. - Essa unidade vai se dar em torno do que, de um programa político, de uma figura política, de um partido? Eu acho que nada se conseguirá fazer sem que haja uma liderança. Isso não quer dizer, de ne-
_58/
18 entrevistas _ revista caros amigos
nhuma forma, personalismo, como os que procuram destruir um corpo de ideias, destruindo a liderança que representa esse corpo de ideias, como tentaram fazer com Vargas. Eu creio que é indispensável que haja transformações, e as mudanças ocorrem sempre em torno de uma liderança, como aconteceu na China. Há quanto tempo o povo chinês vivia completamente desmantelado em tudo? Só foi possível mudar depois que surgiu uma liderança que foi somando, somando, somando… JOSÉ ARBEX JR. - Mas o senhor se considera um Mao Tsé-Tung brasileiro? Olha, se eu fosse mais jovem, quem sabe? Patriotismo não me falta, amor ao povo brasileiro não me falta, amor à humanidade também não e, sobretudo, pureza de intenções. Agora, eu já estou mais pra lá do que pra cá. GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - Mas os Brizolas são longevos. São longevos, tanto os Brizolas quanto os Mouras. Os Mouras mais que os Brizolas. Os Mouras são de origem portuguesa, entraram não sei quando, sei que foram descendo lá pelo Paraná, Santa Catarina, pelo rio Uruguai, lá onde um Brizola encontrou uma Moura, não é? Eu sempre me deleitava, me sentia tão feliz de ouvir aquela história. Meu avô Moura era professor primário, morreu, e ficaram cinco filhas e um filho, e então a minha avó Emília vivia ali de pequenos serviços. E tinha um carreteiro, meu pai, que vinha buscar erva-mate para levar para a estrada de ferro. Ele tinha uma empresa de transporte, que eram três carretas. Naquele tempo, começo do século, não havia nada e ele acampava assim nas proximidades. Um dia, minha mãe conta que andava passeando com uma irmã e uma amiga e viu um sujeito a cavalo que vinha com uma carta enfiada no bolso, e diz ela: “Eu tive um palpite que era aquele carre-
Tinha um carreteiro, meu pai, que vinha buscar erva-mate para levar para a estrada de ferro. Ele tinha uma empresa de transporte, que eram três carretas. Naquele tempo, começo do século, não havia nada e ele acampava assim nas proximidades. Um dia, minha mãe conta que andava passeando com uma irmã e uma amiga e viu um sujeito a cavalo que vinha com uma carta enfiada no bolso, e diz ela: “Eu tive um palpite que era aquele carreteiro quem estava mandando aquela carta”. E era mesmo, a carta pedindo em casamento sem nunca ter falado com ela. A família se reuniu e acabou concluindo: “Bom, tem tanta promissória vencida aqui, melhor aceitar”.
teiro quem estava mandando aquela carta”. E era mesmo, a carta pedindo em casamento sem nunca ter falado com ela. A família se reuniu e acabou concluindo: “Bom, tem tanta promissória vencida aqui, melhor aceitar”. E decidiu que concordava, que ele podia vir visitar minha mãe. Chegou de noite, ele veio visitá-la e assumiu o compromisso de casar dali a quatro meses, que era o tempo que ele levava de ida e volta até a casa dele. WAGNER NABUCO - Ele ia até Sorocaba? Os Brizolas vêm de Sorocaba. Eles eram uma família de tropeiros e lá foram ficando. Bom, ele chegou no tempo certo, voltou, já trouxe os aprontes todos que eles tinham encomendado, casaram, subiram na carreta e foram começar a vida lá em uma posse, num lugar em que estavam os Brizolas, por ali... JOSÉ ARBEX JR. - O senhor tem quantos irmãos? Atualmente, eu tenho dois, somos três vivos, mas éramos seis. Cinco homens e uma mulher. JOSÉ ARBEX JR. - Então inverteu a equação, porque antes eram cinco mulheres e um homem. É, uns morreram pequenos, teve um irmão meu que se suicidou, era o maior da família, e meu pai foi morto na Revolução de 23, um movimento rebelde armado que surgiu lá no Rio Grande para derrubar o governador Borges de Medeiros, que estava havia quase 23 anos no poder – ele passou 25 anos – e não saía. Então, meu pai foi um camponês que se juntou com outros no movimento chefiado por Assis Brasil. Foi capitão daquele movimento e morreu ali. SÉRGIO DE SOUZA - O senhor tinha um ano? Eu tinha um ano. Claro, eu me criei sem conhecer meu pai, mas, para nós, tudo o que era ruim era esse Borges de Medeiros. Eu, garoto, saía para o meio dos mandiocais e quando pergunta-
\59_
#03_ Leonel Brizola
vam: “Onde é que tu vai?”, respondia: “Eu vou passar um telegrama para o velho Borges”. Entendeu? Borges era mineiro, o velho Borges não era gaúcho. Ficou 25 anos no poder e aí fizeram um armistício. WAGNER NABUCO - Pedras Altas. Fizeram esse armistício e meu nome surgiu do nome de um dos camponeses que era meio chefão lá, Leonel Rocha. O acordo foi de que ele terminaria aquele mandato e não seria mais governador. Isso foi cumprido. Agora, bonita foi uma história que ocorreu comigo aqui, quando cheguei de volta do exílio, nas primeiras andanças, quando fui ser candidato a governador. Fui interpelado em alguns lugares: “Como é que o senhor, gaúcho, vem se meter aqui no Rio de Janeiro, que pretensão é essa de vir nos governar?”. E eu já tinha no bolso preparadinha a resposta. Descobri, na história do Rio Grande do Sul, que o primeiro governador eleito do Rio Grande do Sul era um fluminense. Foi na Revolução Farroupilha. WAGNER NABUCO - O senhor tinha uma estrutura do PDT no Rio Grande do Sul e, no entanto, se candidata pelo Rio de Janeiro, no meu entendimento, uma batalha muito mais difícil. Por acaso, o senhor avaliou que seria complicado para a estrutura militar aceitá-lo como governador do Rio Grande do Sul, com a lembrança da cadeia da legalidade, por exemplo? Não, nem uma coisa nem outra. O que tem ocorrido comigo, em regra, salvo algumas exceções no início, nos meus primeiros passos, é que nunca sou candidato porque quero, porque aspirei ser candidato. Quando da minha volta, eu vim caminhando, procurando um lugar que fosse, do ponto de vista geopolítico, mais conveniente para eu me instalar. E tive essa feliz inspiração de me instalar no Rio de Janeiro. Disse: “Aqui é o ponto. Repercute tanto tudo que se faz no
_60/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Essa questão do Rio como plataforma você sabe que me tem feito pensar muito ultimamente, porque essa plataforma foi utilizada secularmente e de uma forma predatória. Depredaram essa beleza que era o Rio de Janeiro, só trouxeram problemas. Atraíram para cá uma enorme população. Da escravatura resultou a ocupação dos morros. Não fizeram saneamento, só acumularam problemas, foi um desenvolvimento industrial frágil. Rio de Janeiro, isso aqui é uma espécie de tambor”. A cadeia da legalidade, a reação civil que acaba, pelo menos naqueles primeiros tempos, vitoriosa, teve uma repercussão muito grande no Rio de Janeiro. Isso me fez avaliar também o nível de consciência política dessa população aqui. Tanto que, em 1962, eu fui candidato a deputado aqui e, de cada três votos, um era meu – se fora hoje, eu devia ter quase dois milhões de votos para deputado federal. Então, quando vim em 1982 para cá, atraído por esse conjunto de fatores, estive com a inspiração certa. Essa questão do Rio como plataforma você sabe que me tem feito pensar muito ultimamente, porque essa plataforma foi utilizada secularmente e de uma forma predatória. Depredaram essa beleza que era o Rio de Janeiro, só trouxeram problemas. A única coisa que fizeram pelo Rio de Janeiro foram os trens da Central para aliviar a centralização aqui nesses apertos, o que desenvolveu Bangu, Realengo, todas essas enormes
aglomerações humanas. Depois Campo Grande, Santa Cruz, tudo isso aí, e depois a ponte Rio-Niterói, que mais? Tudo o mais foram problemas. Atraíram para cá uma enorme população. Da escravatura, resultou a ocupação dos morros. Não fizeram saneamento, só acumularam problemas, foi um desenvolvimento industrial frágil. Bastou São Paulo tomar corpo que desapareceu praticamente tudo daqui. JOSÉ ARBEX JR. - Governador, eu fiquei surpreso com a sua leitura da história do Brasil tomando o Rio como centro articulador dessa história porque o senhor está ignorando outros sujeitos da história, como Zumbi dos Palmares, Canudos, de Antônio Conselheiro, movimentos sociais que tiveram lugar muito longe do Rio de Janeiro e que, aliás, foram sufocados pelo Rio de Janeiro a partir de uma articulação das elites. O senhor não está partindo de uma história contada pelos donos do poder? Pelo contrário, essa é uma história que eu nunca vi, nunca li e não existe em texto algum. Esse é o produto das minhas reflexões. Eu jogo a discussão. Estou convencido de que é assim. Agora, a história brasileira não é uma história de justiça, não quer dizer que o Rio de Janeiro tenha sido a plataforma do acerto, do bem, da generosidade. Ao contrário. E também não quer dizer que eu não reconheça a importância desses movimentos que você citou e de outros pelo Brasil afora. Pode crer, aquelas áreas que nós, gaúchos, ocupamos foram demarcadas por nós – não todo o Rio Grande, mas uma boa parte – e é brasileira porque quis, por opção. O Brasil existe porque um novo ser estava botando a cabeça de fora, entendeu? Que era o povo brasileiro, lá na expulsão dos holandeses. Aliás, considero esse um dos episódios da nossa história mais ricos e expressivos. Até para você fazer uma análise da situação atual e tirar uma ideia sobre o futuro. Se o povo brasileiro não julgar com extremo rigor o que esse
Fernando Henrique fez, nós vamos pagar pela nossa displicência histórica com o tempo, porque eles só conseguiram vencer os holandeses depois que consideraram Calabar traidor. Aí criou uma energia que não se sabe de onde vem, de um movimento genuinamente patriótico. JOSÉ ARBEX JR. - O Fernando Henrique é o nosso Calabar? Sim, senhor, acho que o papel dele é o de Calabar. Aí apareceu num noticiário que eu queria o fuzilamento dele. Não, eu disse que votava a favor de passar o fogo naquele Calabar, mas me referia a passar o fogo moral, julgá-lo politicamente com extremo rigor, porque ele está fazendo um papel às vezes mais daninho para as gentes brasileiras, para as terras brasileiras, do que aquele de Calabar, dada a dimensão das decisões que vem tomando. MARINA AMARAL - E o povo brasileiro que teria de acabar com esse Calabar? Olha, acho que o movimento popular tem sido uma sucessão de eventualidades, porque se trata de um povo muito oprimido, humilhado, intimidado e, a não ser em alguns momentos, sempre considera mais importante defender a sua sobrevivência, além de não ter sorte com as suas elites. Os partidos que se propõem a defender o povo brasileiro, em geral, têm sido partidos de quadros. Eu custei a entender, mas acho que o Partido Comunista também foi um partido de quadros, aprofundava um pouco a organização, mas sempre com uma visão de partido de quadros. Acho que os movimentos têm surgido em torno de lideranças, não puderam se organizar. O maior movimento recente que houve foi o que se desenvolveu em torno da figura de Vargas, e assim mesmo, foi muito confundido com outros movimentos internacionais, mas a verdade é que Vargas ficou só a partir de um certo momento, e só contava com o apoio e a solidariedade das
\61_
#03_ Leonel Brizola
massas trabalhadoras, dos despossuídos, da classe E, como modernamente se diz, e algum pouco da D e uma que outra exceção das outras classes, gente que, sem se comprometer, pescava ali, até grandes capitalistas. Você imagina que Lafer foi um dos grandes financiadores da campanha do Getúlio e o Jafet, outro. O Getúlio sempre falava brincando, caçoando: “Entreguei o Ministério da Fazenda para o Lafer e o Banco do Brasil para o Jafet, então, um cuidava do outro”. Mas foi um movimento popular de grande expressão. Infelizmente, tive os meus insucessos com muitos quadros do trabalhismo, a começar pela Ivete – ela foi lá nos Estados Unidos e, a princípio, nosso acerto era perfeito. Depois verifiquei que ela mantinha vínculos com áreas que estavam muito dentro do poder, como era o caso do Golbery, e que se tornava difícil uma parceria com ela para restaurar o trabalhismo. Vocês são de outra geração, mas 64, no fundo, foi feito contra o trabalhismo, contra nós, porque era um movimento que crescia muito, eles não tinham controle sobre o movimento mesmo com todas as infiltrações que possuíam dentro dele. E eu tive dificuldades, incompreendido pelos ex-integrantes do Partido Comunista, que se encontravam muito confusos, pelo Partido Socialista. Herdei esse carma de ter essa dificuldade de ter comigo quadros leais, fiéis, embora alguns, como Darcy Ribeiro, têm sido de uma fidelidade extrema no curso da minha vida. Fui deparando com essas divergências, mas eram pessoas que, no fundo, não pensavam de acordo com os interesses da massa popular, como, por exemplo, o Marcelo Alencar. MÁRCIO CARVALHO - O senhor lançou alguns nomes importantes aqui, o Marcelo Alencar, o César Maia, mais recentemente o Garotinho. Por que as criaturas se voltam contra o criador? No fundo, são casos de incompatibilidades ideológicas. As pessoas vão vendo que encontram em mim uma resistência para a satisfação de seus
_62/
18 entrevistas _ revista caros amigos
interesses, como o caso de todos esses que você citou. Querem porque querem o poder, serve vice mesmo, e muitas vezes tive de contrariá-las. O Lerner, por exemplo, trabalhei sinceramente pela eleição dele. Passados poucos meses, ele veio a mim para dizer: “Governador, meu problema é poder. Eu me encontro sofrendo muito. Eu não sei o que vai acontecer comigo, o meu problema é poder, eu preciso do poder e só com o governo federal do Fernando Henrique que eu vou alcançar o poder”. Eu não fui grosseiro, fui apenas duro como ele merecia, e assim muitos outros. Quando dizem: “E isso aí, o que é?”, digo: “É um carma que eu carrego”. Ninguém foi mais traído do que o Getúlio. O Getúlio criou um partido, o PSD, muitos de vocês se lembram do PSD, como as oligarquias sempre são engenhosas. Ainda puseram o nome de Partido Social Democrata. Era a pura oligarquia. WAGNER NABUCO - Eles gostam do social. Então criaram o partido do governo Getúlio. Mas, então, como é que o governo Getúlio era popular e só tinha no governo essa gente? O Getúlio explicava, ria depois. “É o seguinte: vocês não sabem quanto é eficiente fazer política de esquerda com gente de direita”, compreendeu? Fazer política de esquerda com gente de direita. “Porque, no fundo”, ele dizia, “a direita gostaria de fazer todas as reformas, mas tem medo de, na hora de fazer as reformas, perder o poder, então fica numa posição reacionária”. E a direita se sentia amparada pelo governo do Getúlio, porque estava ocupando funções nos governos estaduais, municipais, um que outro ministro que estava ali dando o tom para o Getúlio tomar as medidas. Como ele tinha poder discricionário, ele ia tomando as decisões e a direita ia cumprindo, entendeu? Eu queria que vocês vissem o que era um 1º de Maio na época do Getúlio, desfilava tudo: latifundiários, empresários, trabalhadores, sindicatos, todo mundo ia para o campo do Vasco.
JOSÉ ARBEX JR. - Governador, ao mesmo tempo em que o senhor diz que é preciso apontar o Calabar e punir o Calabar, o senhor defende que as massas estão entorpecidas pelo sistema de comunicação. Como romper esse bloqueio? Qual é o caminho para chegar até as massas? E aí aproveito para perguntar e dizer o seguinte... Posso lhe interromper aí? Se eu soubesse, eu já tinha ido. JOSÉ ARBEX JR. - O senhor deve saber. Não, se eu soubesse esse caminho, pode ficar certo que eu já estava lá. JOSÉ ARBEX JR. - Mas então o senhor não devia estar postulando o poder. Não, eu postulo, porque numa dessas, compreendeu? Você sabe que os caminhos a gente encontra caminhando, não é? JOSÉ ARBEX JR. - O senhor caminharia com o Lula, com o João Pedro Stedile, quem seriam seus companheiros? Não, eu não faço esse tipo de plano, não tenho planos a esse respeito. Só acho que o Lula agora deveria ser candidato a um cargo executivo de menor escala, para fazer um aprendizado. Porque ele tem espírito público, é um ser humano especial, acho que ele deveria ser prefeito de uma grande cidade, ou ser governador de algum Estado, ou ministro, não é?
O Getúlio explicava, ria depois. “É o seguinte: vocês não sabem quanto é eficiente fazer política de esquerda com gente de direita”, compreendeu? Fazer política de esquerda com gente de direita. “Porque, no fundo”, ele dizia, “a direita gostaria de fazer todas as reformas, mas tem medo de, na hora de fazer as reformas, perder o poder, então fica numa posição reacionária”. E a direita se sentia amparada pelo governo do Getúlio, porque estava ocupando funções nos governos estaduais, municipais.
MARINA AMARAL - Governador, o que o senhor acha do MST? GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - O Stedile uma vez falou que foi graças ao governo do Leonel Brizola do Rio Grande do Sul que ele, Stedile, existe, e o assentamento. Até comentei: “Mas é engraçado, Stedile, ninguém sabe dessa informação”. Pior foi o que ele disse agora, que me encheu as
\63_
#03_ Leonel Brizola
medidas todas. Sabe o que ele declarou? Que, se votasse no Rio de Janeiro, votaria em mim. Agora, questão de semana passada. SÉRGIO DE SOUZA - O senhor disse na época do Jango, das reformas de base, que a reforma agrária seria feita na lei ou na marra. Eu nunca disse isso. SÉRGIO DE SOUZA - Nunca disse isso? Deve estar registrado em algum lugar erradamente. Mas eu ia perguntar se o MST está fazendo na marra. Você sabe que a história é feita pelos vencedores. A ditadura venceu, o Brizola passou a ser o diabo em pessoa. Eu nunca disse isso de fazer na lei ou na marra, pelo contrário, eu tinha um antecedente de anos nesse assunto e eu ia dizer a vocês o seguinte... GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - Mais que o Julião? Mais que o Julião. GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - Mais importante que o Julião! Mais que o Julião, porque eu era concreto no projeto. GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - Claro, no poder. Essas histórias correm. Diziam que eu queria a remissão dos sargentos, fizeram isso para me intrigar com o Exército. Eu não queria. Reconhecia os direitos dos sargentos, mas nunca defendi a questão da quebra da disciplina por eles. Então, sabe como é. Uma vez, quando eu já estava no Uruguai, apareceu um mineiro muito brizolista com uma manchete do jornal. “Eu li isso, doutor Brizola, e fiquei enlouquecido, disse para minha mulher: “Fica aí, que eu vou lá”. A manchete era assim: “Brizola Louco. Foi internado pelo gover-
_64/
18 entrevistas _ revista caros amigos
no do Uruguai em um lugar chamado Atlântida”. Era um internamento político! Eu estava lá em um balneário uruguaio chamado Atlântida a pedido do governo brasileiro, e o jornalista, como leu “internado”, botou “louco” (risos). Então, tudo se dava assim, entendeu? Mas permitam que eu conte uma coisa para vocês, que vai surpreender muitos de vocês. Olha, quem fundou o MST fui eu. Eu que criei, que fundei. JOSÉ ARBEX JR. - Como foi isso? No começo, ele chamava Master, Movimento dos Agricultores Sem Terra. E depois agregamos os de pouca terra também, que eram os colonos que tinham até 25 hectares, para quatro, cinco filhos. JOSÉ ARBEX JR. - Isso foi quando? Isso foi no ano de 1960, por aí. E o primeiro presidente do Movimento Sem Terra está lá, vivo ainda. JOSÉ ARBEX JR. - Como ele se chama? Chama-se Milton Serra Rodrigues. Bom, esse movimento surgiu assim com a campanha, com o conhecimento do interior, com a vivência. Eu cheguei à seguinte conclusão: nós precisamos associar essa gente sobrante do campo que anda por aí sem registro de nascimento, que não tem nada. Tem que botar essas crianças na escola. Então, o meu grande esforço foi a escolarização. Tanto que eu agora vou dizer uma coisa que nunca disse: eu me considero a pessoa que no mundo mais fez escolas. Sabe que eu gosto de ler horóscopo? Nesses dias, eu li um que até cortei e guardo comigo. Dizia: “Assuma. Não tenha inibição. Assuma o que você vale (risos)”. E eu estou assumindo perante vocês. Você sabe quantas escolas eu fiz no Rio Grande do Sul? Fora as de Porto Alegre, que não conto. Só no Estado, fiz 6.300 escolas. Foi uma dessas em que estudou o Stedile. Escolinha pequenininha, a maioria eram chalezinhos suíços de madeira.
A manchete era assim: “Brizola Louco. Foi internado pelo governo do Uruguai em um lugar chamado Atlântida”. Era um internamento político! Eu estava lá em um balneário uruguaio chamado Atlântida a pedido do governo brasileiro, e o jornalista, como leu “internado”, botou “louco” (risos). Eu montei três fábricas e botei a iniciativa privada junto. E depois escolas de duas salas, de três salas, de oito salas, de doze salas, escolas técnicas. Tem um ginásio em cada município. Eu me dediquei a esse tema. Quando voltei do exílio, foi a fase dos Cieps, porque percebi que antes havia pobreza, mas não havia miséria, principalmente no Rio Grande do Sul, não havia fome, subnutrição. Ao chegar aqui no Rio, depois do exílio, encontrei a miséria e pensei: “Que adianta criar escola, contratar uma professora para essa criança desnutrida, cheia de lombrigas, de parasitas, compreendeu? Essa criança não vai aprender, cheia de focos dentários já aos 11 anos de idade. Tem de ser uma escola integral. Eu estava com o Darcy numa favela, e indo de uma favela para outra, para Vila Kennedy, e caminhando, caminhando, quadras e quadras, e cada vez com mais crianças, mais crianças, mais crianças. Parecia que aquelas crianças estavam vendo em nós, sei lá, é difícil explicar. WAGNER NABUCO - Por que o senhor nunca conseguiu penetrar em São Paulo? Por falta de presença. Vou te contar uma coisa: eu tinha a intenção de morar em São Paulo depois que terminasse o governo aqui. Mas, como o Darcy perdeu a eleição, achei que, se mudasse para São Paulo naquele momento, iam me gozar aqui: “Foi embora! Finalmente foi embora!”. Ti-
nha uma propaganda aqui que me colocava como um sujeito de bota e espora, tchen, tchen, tchen, tchen (imitando barulho da espora no chão). “Já se vai o caudilho”. Então pensei: “Esses caras... Não posso ir-me embora daqui agora, tenho de ficar”. Um erro. Devia ter enfrentado o preconceito e ter ido para São Paulo. Tenho certeza de que era eu ficar uma temporada em São Paulo e... Claro, eu não tive tempo. Agora, não tenho mais. WAGNER NABUCO - A elite tem ódio à educação do povo. Um sentimento de ódio à educação. Pude comprovar isso aqui, porque no Rio de Janeiro tem muita gente que range os dentes quando fala em Brizola e nem me conhece, nunca me viu, e grande parte dessa elite adquiriu esse ódio só porque construí uma escola do nível das de classe média para as nossas crianças escurinhas, para as crianças negras, para a nossa pobreza. Porque o que eles querem muito é gente descartável. Voltando à pergunta sobre os sem-terra... Então, um grupo nosso de militantes do partido resolveu associar aquelas pessoas, e o Milton foi o chefe, tinha sido prefeito num município do interior, Encruzilhada, conhecia bem o problema. E começamos a associar, cinco aqui, dez ali, formando núcleos por toda parte, enchendo de núcleos. Ao mesmo tempo, arrumamos um grupo do governo para identificar as áreas pertencentes ao Estado ou as pessoas ricas que não as utilizavam. Estavam ali para valorizar, tanto no setor urbano quanto rural, mas nós só atingimos os pontos mais evidentes. Aí nos surgiu a ideia do acampamento. O primeiro acampamento com vistas à reforma agrária, porque já tinha os acampamentos do povo negro que fugia de ser escravizado. Mas o primeiro acampamento organizado para reforma agrária fui eu que fiz, quando já era governador. Bolei o assunto porque eu fui constituinte de uma emenda declarando que as pessoas têm o direito de se reunir livremente, quando quiserem, bastando para isso comunicar
\65_
#03_ Leonel Brizola
as autoridades, nos lugares públicos. Então escolhemos uma área muito grande, em torno de uns 48 mil hectares, terras boas, muita mata também, pinheiros, que pertenciam a uma empresa estrangeira, e planejamos o acampamento. Tínhamos um líder nessa região... SÉRGIO DE SOUZA - Dentro da propriedade ou fora? Fora, tudo fora, nas estradas. MARINA AMARAL - Onde? No Rio Grande do Sul, município de Sarandi. Esse líder era primo meu, lá dos Mouras, então o chamei e falei: “Você chega lá, vai na rádio, lê o manifesto convidando todo mundo para ir a um lugar determinado, você escolhe o lugar. Na beira do arroio, debaixo do mato, um lugar limpo para vocês fazerem um acampamento para reivindicar terra”. E ele foi na rádio e me surpreendeu. No primeiro dia, já tinha lá umas duzentas pessoas, no segundo dia, tinha quinhentas, no terceiro, tinha mil. Famílias. E ele dizia: “Venham vocês com as carroças, com a família, tragam os mantimentos que puderem trazer e vamos acampar nas costas do rio tal, para poder chamar a atenção, porque nós precisamos de terra para nossos filhos”. Tudo colono, tudo gente de mão calejada, gente séria. Quando foi lá por uma semana mais ou menos, tinha 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas, um sucesso. E eu havia dito a esse líder: “Quando começarem a chegar lá, você passa um comunicado para o governador, assim: “A associação de trabalhadores reunidos comunica...”. E eu, então, tomo providências daqui para protegê-los. Fiz três acampamentos da Brigada Militar para manter a ordem, quer dizer, a intenção era evitar que houvesse violência contra os acampados. Também disse ao meu primo: “Vocês não passem o alambrado, podem chegar no alambrado e olhar essa terra, mas não pode haver invasão. Desloquei o serviço de
_66/
18 entrevistas _ revista caros amigos
E como o general estava ali, puxei: “Me digam uma coisa, quem é que já serviu o Exército aqui? Levante o braço”. E aquela gringalhada toda levantou o braço! (risos) Todos serviram o Exército, quase todos. “O senhor está vendo, general?”, falei. “Eu quero saber o seguinte: quem é que esteve na guerra, quem é que esteve na FEB aqui?”. E de novo era uma porção de gente, nem dava para contar. Aí, um inchou o pescoço e disse assim: “Governador, nos prometeram tudo para quando voltássemos da guerra, e nós não temos nada, nem um pedacinho de terra para plantar.” E o general ali. Saímos de lá, plenos e satisfeitos. Criei um ambiente público para desapropriar, passei a usar a faculdade que a Constituição dava – depois revogaram isso aí – de desapropriação por interesse social e o direito de indenizar os proprietários com títulos da dívida pública.
saúde para poder vacinar todo mundo e uma assistência de alimentação, embora eles lá já tivessem muita doação. Chegavam carroças de feijão, chegavam porcos e vacas, eles já estavam lá fazendo charque, estavam muito bem. E aí, como diziam que aquilo era coisa de comunista, o que eu fiz? Disse: “Olha, vocês cortem uma árvore forte e façam umas colunas”. Eles trabalham com uma ferramenta que se chama enxó, que é uma espécie de um machadinho com uma enxada assim, que vai descascando, vai descascando e fica aquela coluna de madeira de lei quadradinha. “Agora põe lá a faixa com o nome: “Acampamento João 23. Somos cristãos, queremos terra”. E convida um padre para rezar uma missa. A Igreja recusou-se a rezar a missa. GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS - A Igreja e o trabalhismo! A Igreja, nessa época, não queria nada com nada, não queria nada com sindicato, com trabalhador, criou até um movimento contrário aos sem-terra, chamado Frente Agrária Gaúcha. Já era o dom Vicente Scherer. Então, o que acontece? Contratei dois aviões, dois Douglas DC3, da Varig, porque tinha uma pista natural no campo, prática para aterrissar, e convidei para conhecer o acampamento o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o comandante do Terceiro Exército e o pessoal da Igreja. O próprio dom Vicente foi. Foi até a cúpula da Farsul, a federação rural. Fiz uma caravana, levei também jornalistas de todos os jornais. Não tinha televisão naquele tempo ainda, mas filmaram e passaram nos cinemas, aqueles curtas. Aí, disse para eles armarem um pequeno coreto com instalação de som e foi lá que me instalei quando cheguei com os convidados. Peguei o microfone e comecei: “Olha, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui?”. E eles respondiam: “Terra, nós queremos terra, governador”. Um diálogo natural, a coisa mais
formidável. E eu continuava a perguntar: “Vocês são casados?”. E a resposta: “Todo mundo aqui!”. “Tem algum solteiro?” “Não, só casado.” “Muitos filhos?” “Pois o senhor não vê essa criançada que está aí?” “Quem tem cinco filhos levante a mão.” Um mar de braços. “Quem tem oito filhos, dez filhos?” “Esse aqui tem dezoito, governador.” E era aquele ambiente, aquela coisa. “Mas vocês estão aqui para invadir, o que vocês estão fazendo?” “Não, não, não, ninguém vai invadir aqui a propriedade dos outros, nós queremos é chamar a atenção para a nossa miséria.” E como o general estava ali, puxei: “Me digam uma coisa, quem é que já serviu o Exército aqui? Levante o braço”. E aquela gringalhada toda levantou o braço! (risos) Todos serviram o Exército, quase todos. “O senhor está vendo, general?”, falei. “Eu quero saber o seguinte: quem é que esteve na guerra, quem é que esteve na FEB aqui?”. E de novo era uma porção de gente, nem dava para contar. Aí, um inchou o pescoço e disse assim: “Governador, nos prometeram tudo para quando voltássemos da guerra, e nós não temos nada, nem um pedacinho de terra para plantar”. E o general ali. Saímos de lá, plenos e satisfeitos. Criei um ambiente público para desapropriar, passei a usar a faculdade que a Constituição dava – depois revogaram isso aí – de desapropriação por interesse social e o direito de indenizar os proprietários com títulos da dívida pública. Criei um instituto, chamado Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, o Igra. Depois veio a ditadura e criou o Ibra. Claro que nem sabiam que era coisa do Brizola, mas criaram o Ibra, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. MÁRCIO CARVALHO - Então, o senhor vai se candidatar à presidência em 2002? Não, não tenho planos. Agora, se aparecer um cavalo encilhado, eu monto, eu monto, sim, senhor, se tiver energia.
\67_
_68/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#04_ Luiza Erundina _
Maio de 2007
Lição de política Aos 82 anos, a paraibana Luiza Erundina quer rejuvenescer a política brasileira. Descrente de partidos - meras “sopas de letrinhas”, define alguns – e do palco político nacional, a deputada federal trabalha para fincar sua raiz como alternativa ao cenário de retrocesso que envolve os centros de poder e para a renovação daquela que considera a “velha” esquerda brasileira. Em 15 de março de 2016, anunciou sua “filiação democrática” ao PSol. No dia 2 de abril, veio o convite para disputar mais uma vez a Prefeitura de São Paulo. A candidatura que lhe dera a chance de voltar ao comando da cidade que governou de 1989 a 1992, alicerçada em propostas como instituir o passe livre no transporte público, resultou na quinta posição nas urnas, com 3,18% dos votos válidos. O novo partido recebe de braços abertos o Raiz Movimento Cidadanista, lançado no Fórum Mundial de Porto Alegre em janeiro de 2016 e que ganha forma após quase cinco décadas de envolvimento com os movimentos sociais, justamente a base que pretende para a nova legenda. A gestação não vem de hoje. Em entrevista a Caros Amigos em maio de 2007, Erundina já projetava o futuro que começa a consolidar agora e apostava justamente nesses movimentos como detonadores de um novo ciclo na vida política do país. E ela avisa que não tem pressa, quer uma nova forma de fazer política e levar a experiência da democracia ao máximo, a começar pela própria “casa”, com todas as decisões tomadas em consenso. Um projeto político construído ao longo de uma trajetória que sempre teve como amálgama a coerência em suas convicções. Convicções que a fizeram deixar o PT - partido que ajudou a fundar e pelo qual se tornou a primeira mulher a governar a maior cidade da América Latina – e que a fez romper com o PSB e a se lançar a mais essa luta.
Luiza Erundina nasceu em Uiraúna (PB), em 30 de novembro de 1934. Aos 24 anos, assumiu a Secretaria de Educação de Campina Grande. Com forte atuação nos movimentos sociais do campo e urbanos, em 1971, chegou a São Paulo. Participou da fundação do PT em 1980, partido pelo qual se elegeu vereadora, deputada estadual e primeira prefeita da capital paulista. Foi secretária de Administração no governo Itamar Franco. Foi para o PSB em 1997, de onde saiu em 2016. Filiada ao PSol, está no quarto mandato de deputada federal. ENTREVISTADORES Marina Amaral Andrea Dip Michaella Pivetti Ferréz Hamilton Octavio de Souza João de Barros Marcos Zibordi Thiago Domenici Sérgio Kalili
\69_
#04_ Luiza Erundina
MARINA AMARAL - De que cidade a senhora é e como foi sua infância? Uiraúna, uma cidadezinha no sertão da Paraíba. Meu pai era agricultor e artesão. Trabalhava com couro, tinha a fama de ser um seleiro cuja sela não machucava os animais. E, no período de plantação ou de colheita, trabalhava como agricultor de subsistência. Éramos uma família pobre e muito numerosa, dez filhos, e ele, a cada seca, nos levava para algum lugar não muito distante. MARINA AMARAL - Vocês iam como? As crianças iam no dorso de animais – que eram poucos – e os adultos, a pé, até chegar num ponto pra tomar um trem que nos levava para algum destino. Meu pai tentava chegar já com um contato, através do qual conseguia algum trabalho, mas em situações as mais precárias, as mais inseguras e mais difíceis. A maioria dos parentes em Uiraúna vivia esse drama, e desde muito cedo tomei consciência disso. Me lembro daquelas noitadas, mamãe preparando a comida levada em lata para comermos na viagem e a família arrumando os troços pra fazer a arribação. Outra coisa que marcou muito a minha infância foi a preocupação se viria ou não a chuva. Desde pequenos, aprendíamos a verificar os sinais de chuva, ou o contrário. MARCOS ZIBORDI - Quais eram? A cor do sol no fim da tarde, o vento numa certa direção, uma determinada ave que aparecia cantando e marcava a presença da seca – aquilo era o nosso cotidiano. Desde muito pouca idade, tomei consciência de que aquilo não era uma situação justa, normal, igual para todos. Embora fosse uma pequenina comunidade, havia diferenças porque algumas famílias não precisavam sair caso não chovesse, enquanto a minha e a da maioria precisavam sair. Outra coisa que me marcou muito era que ali na comuni-
_70/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dade tinha uma rua onde ficavam segregados os negros. Chamava-se Rua dos Negreiros. Eles podiam transitar pela cidade, trabalhar na casa dos brancos – famílias igualmente pobres como a minha –, mas tinham que morar naquela rua. Esses sinais contribuíram para eu tomar consciência de que as coisas tinham que mudar. E o meio de que eu poderia dispor pra tentar mudar aquilo era o estudo. THIAGO DOMENICI - Como era o estudo? Como a senhora tinha acesso aos livros? Primeiro, eram escolas públicas de um nível excelente. Aprendi gramática, aritmética, sobretudo gramática, linguagem, no curso primário. Você saía com aquela base geral, o domínio das técnicas de leitura, de escrita, de comunicação oral, de cálculo aritmético, um domínio de enorme valor para o resto da vida, o que hoje a rede pública não dá mais. FERRÉZ - Seu pai, então, não era um homem comum, porque naquela época os homens achavam que a mulher não tinha que estudar. Ele era uma pessoa diferenciada. Um artista. Ele via a minha vontade de ir para o colégio e aí disse: “Você vai e, se não chover, você vem no meio do ano e não volta, porque, se não chover, a gente não tem como te manter”. Era na casa da minha tia, não gastava nada, só a viagem, o livro, o uniforme, era o mínimo, o básico, mas mesmo assim era muito para o orçamento familiar. Quando voltei para as férias e meu pai via o meu entusiasmo, ele dizia: “Agora, chova ou não chova, você vai estudar”. Por que estou insistindo nisso? É a ideia de que a chuva era uma questão central na vida da gente até para ter oportunidade de estudar, que era o apelo mais forte. Então, tudo isso me formou e me deu uma consciência de classe. Eu não tinha projeto de ir pra partido, de ser isso ou aquilo; esse sentido de justiça, essa vontade de mudar as coisas e de me colocar no
Meu pai via a minha vontade de ir para o colégio e aí disse: “Você vai, e se não chover você vem no meio do ano e não volta, porque se não chover a gente não tem como te manter”.
centro do processo não foram fruto da influência desse ou daquele. Devo o que sou hoje como consciência política, e como sujeito político na historia, à minha origem de classe e à compreensão, desde muito cedo, de que as coisas não têm que ser daquele jeito, não há um destino, não há uma fatalidade. Tanto que fugi daquele modelo de ser a mulher que casa muito cedo pra ter uma filharada e reproduzir o modelo. THIAGO DOMENICI - A senhora terminou o curso colegial? Terminei o curso colegial e fiquei nove anos sem estudar porque não tinha condições de fazer o vestibular. Quando consegui fazer universidade, já não fazia mais sentido seguir medicina – como antes eu havia pensado – porque já estava envolvida nas lutas. Foi o meu momento de me envolver nas lutas e aí tinha uma dimensão de Igreja, porque a Igreja no Nordeste, na Paraíba em particular, teve sempre uma presença muito ativa no meio rural, na luta dos trabalhadores rurais. MARCOS ZIBORDI - A senhora se envolveu com as Ligas Camponesas? Não propriamente as Ligas Camponesas, mas com os camponeses que restavam das Ligas e que eram muito perseguidos. A Igreja tinha um trabalho pra continuar mantendo esses trabalhadores juntos e tentando que a chamada luta
não se apagasse, e nós íamos muito ao campo, à roça. Eles tinham pavor, porque as Ligas Camponesas dizimaram trabalhadores naquela época. As histórias das Ligas Camponesas não foram de todo contadas. Eu tinha um primo que era médico, trabalhava na cidade de Sapé, onde foi o foco das Ligas Camponesas, e ele diz que transportou nas ambulâncias muitos camponeses perseguidos, que assistiu a coisas terríveis, decepamento de cabeça de trabalhador rural, uma coisa. Até hoje não se contou devidamente isso. Então ficou um pavor no meio dos trabalhadores rurais que, quando se pergunta: “Você é camponês?”. “Não, não sou camponês.” “Você trabalha em quê?” “Trabalho na roça, mas não sou camponês.” SÉRGIO KALILI - A senhora foi convidada a fazer política ou procurou os movimentos sociais? Procurei os movimentos sociais. Nenhum partido me procurou. MARCOS ZIBORDI - Antes do PT? Antes, até porque sou fundadora do PT, né? Vim do movimento sindical, tive uma militância como assistente social. Vim do Nordeste fugindo da perseguição política, porque uma freira muito amiga minha tinha um parente do 4° Exército lá em Recife e o consultou da minha situação nos meios de segurança. Ele recomendou que eu saísse de lá, porque já começavam a desaparecer pessoas, companheiros nossos, lideranças... MARCOS ZIBORDI - A senhora foi nomeada secretária de Educação e Cultura de Campina Grande aos 24 anos, antes ainda de ter feito universidade... Mas não dizem que em terra de cego ter um olho faz diferença? Não é que eu fosse uma pessoa especial, quer dizer, acho que aquela minha ousadia, minha inquietude, aquela vontade de questionar terminavam me sobressaindo, terminavam suprindo um vazio que havia na própria
\71_
#04_ Luiza Erundina
localidade do ponto de vista de quadros. Então, pra tentar sair daquele cerco da perseguição política, vim em 1968 fazer mestrado na Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, com bolsa da Capes, em nível de pós-graduação. Fiquei em 1968, 69, apresentei tese e voltei pra lecionar – era a primeira mestranda em ciências sociais lá – na Universidade Federal da Paraíba. MARCOS ZIBORDI - Qual foi a tese da senhora? Era ligada à minha experiência prática de serviço social. Bom, voltei pra lecionar na Universidade Federal da Paraíba e preparei programa, frequentei as reuniões do departamento, quando chegou numa sexta-feira, anterior à segunda-feira em que eu ia assumir a cadeira, recebi um recado da diretora de que eu tinha sido vetada pelos serviços de inteligência do Exército e o reitor, que era militar, estava cumprindo determinação, o veto, “por restrições ideológicas” etc. Então tive que vir pra cá, porque lá o cerco foi se fechando, mas voltei muito triste. Lembro que fui tomar um ônibus em Recife, que não tinha ônibus direto de João Pessoa pra São Paulo, e vinha muito magoada e com o sentimento de ter deixado a luta pra trás, vinha mal comigo mesma, não queria vir. E eu era funcionária do INPS na época e soube de um concurso que ia ter aqui pra assistente social do INPS, fiz a inscrição, fui classificada, muito bem classificada, mas me puseram no setor de contabilidade, pra fazer cálculos atuariais de benefícios. Era um horror. Ficava na avenida 9 de Julho, então pegava o ônibus naquele viaduto da 9 de Julho, não tinha roupa adequada, um frio desgraçado... SÉRGIO DE SOUZA - Veio morar onde? Eu morava no Jabaquara, na casa de uma amiga de uma prima minha. Na mesma época, teve um concurso pra assistente social na prefeitura, consegui uma boa classificação e fui trabalhar e me lotaram nas favelas. E o que fui encontrar
_72/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Lembro que fui tomar um ônibus em Recife, que não tinha ônibus direto de João Pessoa pra São Paulo, e vinha muito magoada e com o sentimento de ter deixado a luta pra trás, vinha mal comigo mesma, não queria vir. E eu era funcionária do INPS na época e soube de um concurso que ia ter aqui pra assistente social do INPS, fiz a inscrição, fui classificada, muito bem classificada, mas me puseram no setor de contabilidade, pra fazer cálculos atuariais de benefícios. Era um horror. Ficava na avenida 9 de Julho, então pegava o ônibus naquele viaduto da 9 de Julho, não tinha roupa adequada, um frio desgraçado...
nas favelas? O mesmo povo que estava lá no Nordeste sem terra. Porque, na época, o programa da Sudene era plantar capim pra criar boi, a pecuária era o forte, e os camponeses eram expulsos do latifúndio pros grandes centros urbanos e iam se amontoar nas favelas e cortiços que começavam a ter uma expressão mais grave do que até aquele tempo, quando era um núcleo de barracos. Aí entendi, a questão é a mesma: terra no campo pra trabalhar, que não tem, e terra na cidade pra morar, que não tem. E terra sobrando lá, terra sobrando aqui, logo, é a mesma luta: a luta pela reforma agrária, pela reforma urbana, pela propriedade da terra, seja no campo, seja na cidade. FERRÉZ - A senhora se lembra de algumas favelas? Sim, sobretudo na Zona Leste. Vila Prudente, no sul da cidade. E tinha a favela Marcondes, no norte da cidade, onde eu trabalhava também. Foi uma das primeiras experiências de urbanização de favela, e aí já era uma relação conflituosa, porque a ditadura fazia o controle das ocupações das terras no centro urbano. E aí foi a primeira luta nossa, porque até a associação dos assistentes sociais estava desativada havia oito anos por perseguição da ditadura. E a gente começou a ter conflito no ambiente de trabalho com os secretários nomeados pelos ditadores, prefeitos biônicos, havia o coronel Ávila, um dos torturadores no tempo da ditadura, foi secretário da área de serviço social. Aí a gente viu a necessidade de recriar a Associação Profissional das Assistentes Sociais de São Paulo. E fui ser presidente dessa associação, com outros e outras colegas bem mais jovens que eu. Era mesmo uma diferença muito grande, mas eram as que estavam, inclusive, na luta clandestina, nos partidos clandestinos... SÉRGIO DE SOUZA - A senhora não entrou em nenhum partido clandestino?
Não sei como escapei, viu? Não que não quisesse, mas não me lembro de ter tido um convite. A gente era uma força auxiliar desses grupos que viviam na clandestinidade. Porque a perseguição a nós não havia chegado, eu não tinha militado em nenhum partido político, Partido Comunista do passado. Portanto, as implicações políticas e ideológicas minhas eram de outra natureza, não tinham o nível de gravidade que eles atribuíam a outros que estavam na militância clandestina mesmo. THIAGO DOMENICI - Então, a senhora nunca chegou a ser presa ou sofrer interrogatório... Não, respondi a processo por greves. Como presidente da associação, comandei greve no município, feita junto com greve no Estado, aquela célebre greve do funcionalismo de São Paulo em 1979. Como funcionária pública. Greve contra um decreto do Olavo Setúbal – prefeito biônico – proibindo a ocupação das terras públicas vazias e atribuindo aos assistentes sociais a ida com a polícia pra convencer os ocupantes a sair da terra. E a greve foi um instrumento importantíssimo para nos aproximar dos trabalhadores que resistiam nas fábricas, o Lula inclusive. E o Lula tinha uma queixa dos assistentes sociais e nós, dele, porque havia denunciado, numa das assembleias na Vila Euclides, que a Volkswagen havia contratado 2.000 assistentes sociais, ou mil, pra convencer metalúrgicos a furar a greve. Ficamos muito mal. Aí chamamos o Lula para o encerramento do congresso, como um dos membros da comissão de honra. E, no discurso de encerramento, a gente disse: “Tem assistentes sociais e assistentes sociais”. E, no seu discurso, ele disse: “É, agora entendi que tem assistentes sociais e assistentes sociais. Os que estão do lado do patrão e os que estão do lado do trabalhador. E vocês são essas assistentes sociais que estão do lado do trabalhador”. Foi quando o conheci pessoalmente. No dia seguinte, ele mandou um mensa-
\73_
#04_ Luiza Erundina
geiro dizendo: “Estamos planejando a criação de um partido, se você não tiver compromisso com outro partido ou com algum grupo clandestino, se quiser estar junto...”. E aí foi quando a gente começou a construir o PT. Uma bela experiência, uma experiência de luta real do povo, não era só o sindicalizado, não era só o dirigente sindical, era o povão que sustentava o fundo de greve, que sustentava a barra em casa, a mulher, enquanto o marido estava fazendo greve e não estava recebendo o salário, diferentemente dessas lutas que fazem hoje. Foi a raiz de um partido que construiu esse projeto político que culminou na eleição do Lula e representou, na minha avaliação, um ciclo que termina com o governo Lula. E agora se inicia um novo ciclo que precisa articular as forças vivas da sociedade que tenham um compromisso democrático e popular, pelo menos. THIAGO DOMENICI - O fim do ciclo significa uma mudança de comportamento do Lula? Não, o PT cumpriu um papel nesse ciclo, foi um instrumento importante... E Lula também, mas PT e Lula são outra coisa, não sei se eles se engajariam ou se têm pretensões, ou se têm apelo pra um outro processo histórico, acho que tem que vir de lá de novo, é o MST, são outras forças vivas da sociedade, que continuam resistindo... MARINA AMARAL - Por que a senhora saiu do PT? Porque o PT já não era aquele PT que ajudei a fundar. MARINA AMARAL - Quando a senhora percebeu isso? Foi como prefeita. As exigências que o partido fazia à militante no governo já não correspondiam às nossas origens, nossos compromissos, nossos sonhos, à nossa utopia, à nossa visão de mundo, à nossa visão de poder, à nossa visão de política, que era uma visão pedagógica. A gente não tinha muita preocupação em ser candidato, em se eleger. Inclusive, a proposta
_74/
18 entrevistas _ revista caros amigos
do PT naquela época era: “Não pode ser candidato duas vezes”. É candidato uma vez e deixa o lugar pro outro. O mandato é uma forma de militância, como tem no sindicato, na luta do povo. Portanto, o militante não pode se cristalizar no mandato. Porque não acreditávamos na institucionalidade burguesa. E o institucional, a partir de certo momento, passou a se sobrepor à presença da força política que nós éramos na luta direta com o povo. Aí nos encastelamos nos espaços institucionais, de vereador, de deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador – ainda muito poucos –, isso antes de a gente chegar na prefeitura, mas tendo consciência de que aquilo era um dos espaços, e não o principal. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - Na gestão da prefeitura, a senhora teve atrito com a direção do partido? Porque a direção já estava com outro projeto, sobretudo a direção municipal. A preocupação era com as disputas eleitorais pra presidente da República. E aí a lógica eleitoral, a lógica partidária se sobrepuseram à lógica do projeto original do PT. Isso começou em 1989. Foram três eleições presidenciais, uma eleição pra governador e uma pra minha sucessão. Eleição demais num período de quatro anos. E todas eram de pressão sobre o governo municipal, pra fazer o que o PT faz hoje nos governos. MARCOS ZIBORDI - O que o PT faz hoje nos governos? É exatamente se colocar a serviço de reeleições, de eleições, e aí vale tudo, vale inclusive uma base de governo com essa heterogeneidade que existe hoje. Eu não diferencio o PT dos outros partidos, inclusive o PSB. No rijo, onde é que estamos nisso? O PMDB tendo a hegemonia, tendo o controle do aparelho de Estado a serviço de um projeto de poder, não vai além de
um projeto de poder. É pra isso que elegemos o Lula? Foi pra isso que fizemos toda essa luta? Eu acho que não. SÉRGIO DE SOUZA - Como a senhora se situa então dentro do PSB? Olha, eu sou isolada, ainda agora fui entrevistada pela CBN, que queria me ouvir sobre um documento que o PSB, mais o PCdoB, mais o PDT estavam produzindo, afirmando um apoio ao governo Lula, porém, mantendo uma certa independência. Eu disse que não sei desse documento. Embora eu seja da executiva nacional do partido, não fui consultada, como não sou consultada em nada. Mas é o preço da independência. Se não participo das decisões políticas, não participo do poder. Pelo menos até agora não me expulsaram, né? Por exemplo, trabalho com o pessoal do PSol, com setores do PT, continuo com o mandato muito vinculado aos movimentos sociais. É isso que me ajuda a sobreviver e produz resultado num certo sentido. Até porque o PSB, o PT e os demais não se diferenciam do PSDB, até do DEM agora, né? É a mesma coisa, eles conversam entre si como se o projeto fosse o mesmo. Essa é a grande tragédia que vivemos hoje. Por isso, a gente tem que olhar para o que está acontecendo fora dos partidos, fora dos espaços institucionais. É estar ajudando a sobrevivência desses movimentos que vão, logo, logo, ser... JOÃO DE BARROS - A Conlutas seria um exemplo? Ao próprio MST, que tem suas extravagâncias, falta um pouco de habilidade política, até pra fazer o jogo de poder e acumular forças. Às vezes, eles assumem certas posições extremadas que os indispõem com aliados táticos. Esse governo é um aliado tático do movimento. Porém, até um certo limite, porque o movimento não é uniforme, não é homogêneo, ele tem contradições dentro dele. Então, ficar esperando indefinidamente uma reforma agrária... Não é só
No dia seguinte, ele (Lula) mandou um mensageiro dizendo: “Estamos planejando a criação de um partido, se você não tiver compromisso com outro partido ou com algum grupo clandestino, se quiser estar junto...”. E aí foi quando a gente começou a construir o PT. a reforma agrária, é a política econômica que está aí. Que não é uma política que desconcentra riqueza, não é uma política voltada para o desenvolvimento do país. Esse PAC não passa de medidas econômico-financeiras de investimento e infraestrutura, sem tocar no superávit primário, que é pra poder preservar o ajuste fiscal, enfim, não é diferente do governo Fernando Henrique Cardoso. Espero que, como história, como compromisso de vida, esse governo Lula comece a fazer uma inflexão à esquerda. Porque se não for pra isso... MARCOS ZIBORDI - Ainda falando desses movimentos fora dos espaços constitucionais, qual a visão da senhora sobre o movimento hip hop? Olha, nós da esquerda, que militamos e vivemos essa trajetória, somos tão atrasados politicamente que até muito pouco tempo atrás a cultura era como se fosse um luxo. Na concepção da luta de classes pelas mudanças, não aparecia pra nós o dado cultural. Foi a partir do nosso governo, e muito por influência da Marilena Chaui, na política de cidadania cultural que ela desenvolveu na Secretaria de Cultura. Pra mim, foi muito claro, tomei consciência de que a cultura é tão ou mais importante que a creche, que o posto de saúde, sobretudo pra um grupo político que pretende transformações substantivas na sociedade. E não há transformações substantivas na socieda-
\75_
#04_ Luiza Erundina
de sem romper com as determinações culturais, com os valores, com o comportamento, com os conceitos. É a cultura que deve permear todas as ações. Eu dizia que, no governo, até o faxineiro, o jardineiro, ele tem que ser orientado e inserido na ação de governo a partir de uma concepção cultural. É o que o Paulo Freire (foi secretário de Educação de Erundina) fazia, ele se considerava educador e tratava como tal o vigia da escola, a merendeira da escola, a cozinheira da escola, porque todos eram sujeitos que educavam e se educavam na relação com os educandos.
agitadora das favelas, subestimavam a minha capacidade. “Tudo bem você apoiar as invasões de terras nas favelas e ir lá brigar com a polícia pra não derrubar os barracos, mas candidata a prefeita de São Paulo?” Foram as bases do partido que impuseram a minha candidatura.
MARINA AMARAL - A senhora falou que o importante não era o mandato. Isso não se choca um pouco com o problema que a senhora teve com o PT justamente por aceitar um ministério no governo Itamar? Veja bem: o Barelli foi indicado pelo Lula pra ser ministro do Itamar. Vários delegados regionais do Trabalho foram indicados por Lula, pelo PT etc. Luiza Erundina é que não podia, porque Luiza Erundina acabava de sair da Prefeitura, tendo deixado uma experiência que marcou a vida da cidade. Não fiz vergonha nem aos petistas, não fiz vergonha às mulheres, não fiz vergonha aos nordestinos, não fiz vergonha à esquerda, desculpem a falta de modéstia. E aquela experiência não foi uma experiência do PT, foi uma experiência das esquerdas – pela primeira vez na América Latina, talvez, terem a oportunidade de dirigir uma das maiores cidades do mundo. O PT não entendeu isso. Primeiro, eles não queriam que eu fosse a candidata, disputei uma prévia – a primeira vez que um partido fez uma prévia – com um paulista quatrocentão de muito valor, maravilhoso, que é o Plínio de Arruda Sampaio. Para o partido, o Plínio era muito mais assimilável ao eleitorado paulistano, por ser paulista, por ser homem, por ter uma história, portanto, uma figura respeitável, enquanto a Luiza Erundina eles viam como
MARINA AMARAL - Não a queriam candidata à Prefeitura por causa de linha de pensamento diferente ou era uma... Era uma disputa de poder interna. “Imagina, você ganhar a Prefeitura de São Paulo...” Inclusive, fui cobrada por companheiros depois da prévia, que me chamaram pra uma reunião e disseram: “Você acabou de comprometer o projeto das esquerdas no Brasil”.
_76/
18 entrevistas _ revista caros amigos
SÉRGIO DE SOUZA - A senhora poderia dizer quem eram “eles”? Eram os dirigentes, era Lula, Zé Dirceu, Falcão e todos que ainda hoje dirigem o partido. Estão lá, são os mesmos, só que a cabeça está mais branca.
ANDREA DIP - Quem disse isso? Um companheiro. Não convém falar, não. Me chamou numa reunião na casa de uma companheira pra dizer assim: “Você acabou de destruir o projeto das esquerdas no Brasil por ter insistido nessa candidatura a prefeita”. E outro, que depois, nas primeiras dificuldades de governo, disse: “Quem pariu Mateus que o embale”. Era isso que diziam pra mim. Mas não tenho ressentimento, porque acho que é da natureza humana. Sobretudo quando no meio tem o poder. Somos muito imaturos pra lidar com o poder. Eu, inclusive, todos nós. Não estou escandalizada, só estou situando. Primeiro, não era eu que teria que ser; segundo, não era pra dar certo; e, terceiro, que eles nunca reconheceram aquele governo como sendo do PT. Tanto é que nas várias campanhas do Suplicy e do próprio Lula não tinham o menor interesse em promover aquilo que era
Não fiz vergonha nem aos petistas, não fiz vergonha às mulheres, não fiz vergonha aos nordestinos, não fiz vergonha à esquerda, desculpem a falta de modéstia. E aquela experiência não foi uma experiência do PT, foi uma experiência das esquerdas – pela primeira vez na América Latina, talvez, terem a oportunidade de dirigir uma das maiores cidades do mundo. O PT não entendeu isso. Primeiro, eles não queriam que eu fosse a candidata, disputei uma prévia – a primeira vez que um partido fez uma prévia – com um paulista quatrocentão de muito valor, maravilhoso, que é o Plínio de Arruda Sampaio. Para o partido, o Plínio era muito mais assimilável ao eleitorado paulistano, por ser paulista, por ser homem, por ter uma história, portanto, uma figura respeitável, enquanto a Luiza Erundina eles viam como agitadora das favelas, subestimavam a minha capacidade.
justo, importante, o método de gestão, a relação com o povo, os conselhos populares que criamos, o fortalecimento das administrações regionais, até porque não era um trabalho meu, era de uma equipe. Um Paulo Freire, uma Marilena Chaui, um Paul Singer, um Paulo Sandroni, uma Ermínia Maricato, é um ministério que qualquer governo gostaria de ter. Pena que o ministério do Lula não tenha esse padrão. FERRÉZ - E como seu governo deu certo, apesar de todos esses boicotes? Tinha uma equipe muito comprometida e a luta política do partido não se transferiu para o governo, embora cada um de nós fosse articulado com um grupo. Por exemplo, o primeiro escalão fui eu que escolhi. O segundo escalão – no fundo, o primeiro, que são os administradores regionais, pois têm uma relação direta com o povo – foi o partido que escolheu. E foi o que não deu certo, porque a luta político-partidária se sobrepôs ao interesse da comunidade, aos interesses do governo. MARINA AMARAL - A senhora diz que o PT não aproveitou essa experiência. E em Porto Alegre, essa experiência foi aproveitada? Veja bem, o Lula não veio para a minha posse, foi para a posse do Olívio Dutra, em Porto Alegre. Foi mais importante prestigiar o Olívio Dutra do que eu. E a experiência de orçamento participativo começou em São Paulo. Ninguém fala nisso. Claro, limitado, uma cidade, na época, de 9 milhões e 500 mil habitantes e sem tradição de democracia direta participativa, como você vai discutir um orçamento? Mas o embrião foi ali. Paul Singer, como secretário do Planejamento, era quem, junto com os técnicos dele, preparava as plenárias regionais para discutir o orçamento da cidade. O diagnóstico que embasava o orçamento da cidade era construído com a população nas plenárias populares. E nunca o PT mostra isso. Aí é Porto Alegre.
\77_
#04_ Luiza Erundina
MARINA AMARAL - E como a mídia da época tratou o seu governo? Tem dois lados. A mídia não tinha interesse nenhum de ajudar, de reconhecer, de tolerar, de não atrapalhar. Não tinha mesmo. Não digo os jornalistas profissionais. Nós erramos na política de comunicação. Porque a gente, a esquerda mais pra trás, tinha horror à mídia, acha que a mídia é sempre inimiga da esquerda, acha que o profissional é a mesma coisa que o patrão na má vontade com os governos de esquerda, e isso não é verdade. Então não abríamos espaço pra mídia, era chatura toda vez que procuravam a gente, se o jornalista amigo nosso queria ajudar era como se fosse o patrão. Não tivemos uma política de comunicação competente. E também aquele escrúpulo: se tem tanta criança sem creche ainda, tanta gente sem um leito hospitalar – apesar de termos feito seis hospitais –, se está faltando moradia, pra que gastar tanto em comunicação? Mas só que você não gastava nem sequer para informar o que estava fazendo! SÉRGIO KALILI - Mas não existia uma má vontade na mídia? Eu trabalhava na Folha e ela obrigava a gente a ligar para a Prefeitura pra encher o saco mesmo, falar da reforma do Anhangabaú, botou quanto tijolo, quanto paralelepípedo? E a Globo nunca foi cobrir uma inauguração com a minha presença. Ela ia antes. Não podia deixar de ir, por exemplo, à inauguração da obra do Anhangabaú, à inauguração do sambódromo, à inauguração do autódromo de Interlagos. Eles iam antes, cobriam o evento enquanto eu não estava. FERRÉZ - É que a senhora não batia nas pessoas e nem chamava de vagabundo, que nem o Kassab! Pois é! MARINA AMARAL - E por que a senhora foi para o PSB e não para o PSOL?
_78/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A mídia não tinha interesse nenhum de ajudar, de reconhecer, de tolerar, de não atrapalhar. Não tinha mesmo. Não digo os jornalistas profissionais. Nós erramos na política de comunicação. Fui para o PSB antes de existir o PSol. Foi na época em que eu vi que havia uma incompatibilidade com o PT. E a gota d’água foi na campanha de 96, contra Pitta. Cheguei a ir para o segundo turno. Também teve uma prévia que disputei com o Mercadante e também foi um inferno. Foi mais difícil disputar com o Mercadante dentro do partido do que contra Maluf e companhia afora. Tive que responder, nos não sei quantos debates feitos nos diretórios e nos núcleos, por que havia ido para o ministério Itamar. Aí fui para o segundo turno numa campanha precaríssima, a própria equipe que coordenou a campanha, Garreta e companhia, me responsabilizou por não ter ganhado a eleição. Responsabilizou a mim e à equipe que produziu o programa. E apresentou uma moção de repúdio a mim e aos companheiros, isso em agosto do ano seguinte. A eleição havia sido em novembro! Ali foi a gota d’água. Eu conhecia o Arraes, tinha profunda admiração pelo Arraes e achava que, ele à frente de um partido, aquele partido poderia ter algum sentido. Aí resolvi ir para o PSB, que não era um partido de massa como o PT, não tinha nada a ver com o PT. Eu não deixei o PT, o PT que me deixou. Ainda hoje é uma questão mal resolvida dentro de mim. SÉRGIO DE SOUZA - E as pessoas que estão nessa mesma situação devem optar pelo que, a senhora acha? Acho que temos que construir aquele novo ciclo histórico social. Antes de pensar em constituir um partido tem que se vincular fortemente com os movimentos sociais.
MARCOS ZIBORDI - Quais os movimentos que restaram? Não tem movimentos reconhecidos, estruturados, militando. Mas tem a luta das mulheres, a questão do feminismo, a questão de gênero, a luta por políticas, a questão dos negros, dos homossexuais, dos diferentes. Tem uma força social, nem sempre explicitada no seio da sociedade, aguardando o momento de se expressar. O movimento das mulheres ainda se expressa um pouco, mas é um movimento muito heterogêneo. O movimento ecológico tem uma força no tempo, porque os fatos fundantes de um movimento histórico social têm raiz na história, têm um engajamento no tempo, têm um pilar na realidade concreta da vida do povo. Então o que tem hoje? É esse apelo por uma qualidade de vida. Por exemplo, uma figura como a Marina Silva teria que ser muito mais apoiada pelos movimentos, pela sociedade e pelo governo. Mas, ao contrário, ela é inimiga desse governo, e ainda o que a segura são um ou outro movimento. O movimento ecológico tem apelo universal. SÉRGIO KALILI - O Lula sempre foi assim? Sempre. O Lula é uma liderança. A figura e a experiência sindical acho que reforçaram esse traço autoritário dele. O Lula tem uma necessidade muito grande de aprovação, de ser aceito, de ser ouvido, de ter identidade. Por isso, muda muito de discurso de um público pra outro. Isso é um sinal de insegurança, de falta de convicção daquilo que ele pensa, daquilo que ele quer e daquilo que ele propõe pra sociedade. MICHAELLA PIVETTI - E ele nunca foi de esquerda mesmo? A própria formação dele, não é que ele tinha que fazer universidade e ter sido de um partido comunista, não é isso, acho que a formação do Lula, até por força das características do momento que ele viveu e se formou na liderança,
ele não se deu tempo para refletir. O Lula não gosta de ler, nunca leu, e pra nós é fatal. Nós que viemos lá de baixo. Mas, por mais falhas, dificuldades que o Lula como indivíduo tenha, ele cumpre, cumpriu papel coletivo importantíssimo. A história do Brasil seria outra sem o Lula. Portanto, ele tem mérito. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - Para a senhora, que veio do sertão, da seca, o projeto da transposição do São Francisco foi bom para o Nordeste? É bom para os donos de terra que ainda não dividiram as terras no Nordeste. Alguns vão se beneficiar, como nas barragens que se constroem nas obras contra a seca, que 90 por cento do dinheiro vai para os que fazem a obra e 10 por cento se constroem nas terras particulares dos homens que estão lá. E estão dividindo o Nordeste, o pior é isso. Acho que esse é um programa de marketing, o Lula quer uma grande obra que ficará na história, para o bem ou para o mal dele. E se esse rio não der conta de continuar levando água para o Nordeste ou então não distribuir a água? Eu sou contra. MARINA AMARAL - E um dos maiores entusiastas desse projeto é o ministro do partido da senhora, o Ciro Gomes. Pois é, mas ele também está preocupado com o projeto político eleitoral. Isso vai promovê-lo, não é um projeto defendido pelo PSB, é defendido por alguns do PSB. THIAGO DOMENICI - Eu gostaria de saber como funcionam os lobbies no Congresso. O que a mídia transmite sobre o Congresso não é real. Ou real em parte, porque a mídia só projeta aquilo que é destrutivo para o poder, sobretudo a Câmara. Se há uma instituição na democracia burguesa mais representativa do povo, é a Câmara. Por isso que uma certa mí-
\79_
#04_ Luiza Erundina
dia faz campanha tão sistemática pra destruir o poder, para com isso enfraquecer a democracia. A grande parte dessa mídia não tem compromisso com a democracia, porque não pagou por ela. Não podemos correr riscos, e a forma como uma certa mídia desmoraliza o Poder Legislativo... não obstante todos os canalhas que tem lá. E tem muito canalha lá, de todos os partidos. Mas eu valorizo muito o que se produz de bom naquele Congresso e se produz muita coisa boa. Acompanhem as comissões temáticas, os seminários que se realizam, as audiências públicas, as discussões de projetos de iniciativa do governo, de iniciativa do próprio Congresso. Agora mesmo, temos uma discussão riquíssima na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática sobre a revisão das normas de outorga e renovação de concessão. MARCOS ZIBORDI - Dentro dessa comissão, a senhora faz parte de uma subcomissão, que também tem parlamentares que são proprietários de rádio e televisão. Eu gostaria, inicialmente, que a senhora dissesse a quantas anda o primeiro relatório discutindo a situação do uso de concessão para propor mudanças e como é essa relação ali dentro, sendo que muitas pessoas têm interesses direto naquilo. Primeiro, é uma questão que está na agenda do país, por conta das inovações tecnológicas, da incorporação do sistema digital, e isso vai ampliar muito o poder na concessão desses canais, porque o espectro vai se multiplicar três ou quatro vezes e a tendência é não fazer licitação para concessões ou permissão de uso desses novos canais, é aumentar o poder dos que já têm. O sistema analógico ainda vai sobreviver uns dez anos e a proposta, pelo menos do Ministério das Comunicações, é transferir por consignação, portanto, por empréstimo, os novos canais digitais a quem já detém a outorga ou a concessão dos analógicos.
_80/
18 entrevistas _ revista caros amigos
MARINA AMARAL - Mas vai concentrar mais ainda? É. Então, dependendo da mobilização da sociedade, o esforço que alguns de nós estamos fazendo pode, pelo menos, conter essa sanha. Está sendo formada uma frente parlamentar pela democratização dos meios de comunicação com participação popular. Assim como a gente criou uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular, porque ela é constituída não só de parlamentares, mas também de representantes da sociedade civil organizada. Pretendemos, por exemplo, realizar um seminário nacional sobre esse tema. Você está discutindo o poder no país, não é uma coisa pequena. Mais do que o poder econômico, mais do que a reforma agrária, estamos discutindo o poder real, o poder das ideias, o poder da informação, o poder de transmitir conceitos, cultura, valores. E discutindo qual é o avanço dessa tecnologia fantástica, revolucionária. E o seminário nacional deve culminar, depois dele, com a realização de uma conferência nacional para definir a política de comunicação de massa no país. Assim como tem a Conferência de Saúde, a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Conferência de Assistente Social, será tentada pela primeira vez uma conferência nacional sobre a democratização dos meios de comunicação de massa. Que deve ser a base de uma lei geral das telecomunicações, que o Brasil até hoje não fez. As concessões e outorgas ainda se regem – parte dos dispositivos regulatórios – pelo Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, regulamentado por decreto-lei dos militares, de 1964 pra cá, é um cipoal de normas – de decretos, portarias, leis –, que é o marco regulatório de outorga e concessão de rádio e televisão comercial, educativa, comunitária. Mesmo na Constituição de 1988 há artigos que ainda não foram regulamentados, como o 220, o 221, o 222, o 223, o
224; e o artigo 54, que define o que é proibido ou não no caso de concessão de rádio para parlamentar, tem interpretação divergente porque os parlamentares dizem que isso não é inconstitucional, não é ilegal. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - O parlamentar não pode possuir empresa de prestação de serviço. Mas é ambíguo, sabe? Não tem uma interpretação única, mas vamos mudar, fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, mudando esse artigo. Você acha que é justo deputado e senador, que quem consolida uma concessão é o Congresso, fazendo em causa própria? SÉRGIO DE SOUZA - Mas a mídia vai ter interesse em divulgar isso? Não sei se a mídia, mas os movimentos, eu acredito na força dos movimentos, acredito na força do povo. Tem entidades muito interessantes que já acumularam muito em relação à questão. Essa é uma agenda na qual os democratas, não o DEM lá deles, mas os verdadeiros democratas do Brasil, poderiam se engajar. Nós precisamos de bandeiras, precisamos de causas pra mobilizar o povo de novo, o povo acreditar de novo nele mesmo, acreditar na política e se tornar sujeito de novo. Essa é uma bandeira importante, a democratização dos meios de comunicação de massa. E não é só essa coisa limitada das rádios comunitárias, televisão comunitária, que ficam sendo permanentemente perseguidas pela Polícia Federal, que chega lá e fecha. As comerciais não sofrem essa perseguição, os que estão com suas concessões vencidas há quinze, dezessete anos, não sofrem o menor incômodo e até multiplicam essa concessão, transferindo o poder de operar o sistema em vários estados. Tem escritórios em Brasília especializados em ganhar licitações de outorgas, aí depois vendem, porque não precisa pagar o valor da outorga, só vai pagar quando o canal
Nós precisamos de bandeiras, precisamos de causas pra mobilizar o povo de novo, o povo acreditar de novo nele mesmo, acreditar na política e se tornar sujeito de novo. Essa é uma bandeira importante, a democratização dos meios de comunicação de massa. estiver funcionando, e, nesse intervalo, ele vende a um terceiro por um valor três, quatro vezes superior. É um grande negócio hoje. THIAGO DOMENICI - São muitos esses escritórios? Dizem que há vários. Nós estamos à cata de tentar levantar esse mapa. É o tipo de coisa que vale a pena. Mas a mídia não se interessa, só interessa achincalhar, desmoralizar, generalizar. Não há coisa mais injusta dizer que o Congresso é corrupto. Não é verdade. E independe de partido, tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Tem gente que trabalha muito naquele Congresso. MARCOS ZIBORDI - A senhora acha que a maior parte dos que fazem parte da comissão é a favor ou contra uma democratização? A gente sabe que parlamentares que fazem parte dessa comissão têm interesses diretos. Olha, esses lobbies só se expressam na hora certa, na hora do voto. Nem aparecem nas reuniões da subcomissão. Mas, quando chegar no plenário, que a decisão é do plenário da comissão, aí sim essa turma está lá e aí é hora de pedir verificação de voto e aí a gente precisa desse canal com a sociedade. As mudanças têm um preço e não se fazem mudanças sem o povo estar junto mudando. A minha história de vida inteira me mostra isso.
\81_
_82/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#05_ Lula _
Novembro de 2000
"Somos o mais importante partido de esquerda do mundo" “Acho que não tem gente mais massacrada na imprensa do que eu. Entretanto, continuo vivo e com a mesma vontade que tinha antes.” A declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Caros Amigos em novembro de 2000 continua tão atual quanto na época, mas, hoje, com ingredientes bem mais explosivos. Em um grande espetáculo midiático, Lula foi surpreendido em seu apartamento, em São Bernardo do Campo, às 8h de uma sexta-feira, 4 de março de 2016, por policiais federais para o cumprimento de mandato de busca e condução coercitiva para depoimento expedido pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. A reação foi imediata. Juristas, analistas e políticos criticaram esse e outros abusos do magistrado na investigação. A divulgação de conversa telefônica com a ex-presidente Dilma Rousseff foi a gota d’água e, por isso, Moro teve de se desculpar oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. A desconstrução da imagem de Lula e do PT passa não só por vazamentos estratégicos. Também pelo ímpeto com que alguns são investigados, ainda que sem provas, e outros permanecem à vontade em seus gabinetes, mesmo que pesem contra eles muito mais que suspeitas. E por uma campanha sistemática da mídia. A declaração de Lula à Caros Amigos foi feita dois anos antes da eleição do ex-metalúrgico à Presidência. Com mais de 61% dos votos válidos, se tornou, em 2002, o primeiro político da esquerda a vencer uma eleição presidencial no Brasil. E, quando se começa a desenhar o cenário para o próximo pleito, sob novo massacre da imprensa, Lula se mostra mais vivo do que nunca. E com a mesma vontade.
Luiz Inácio da Silva nasceu em Caetés, então distrito de Garanhuns (PE), em 27 de outubro de 1945, incorporando o apelido Lula ao nome nos anos 90. Filho de lavradores, aos 7 anos, chegou de pau-de-arara a São Paulo. Em 1968, levado pelo irmão Frei Chico, na época do Partido Comunista, começou a militância sindical, tornando-se líder metalúrgico na década seguinte. Em 1980, foi preso pelo Dops em meio a uma greve que parou mais de 100 mil trabalhadores. Fundador do PT, foi deputado federal e duas vezes presidente (2003 a 2010). ENTREVISTADORES Verena Glass Aziz Ab’Saber José Arbex Jr. Carlos Azevedo Wagner Nabuco Márcio Carvalho Fernando do Valle Sérgio de Souza
\83_
#05_ Lula
SÉRGIO DE SOUZA - A gente gosta de mostrar a história do entrevistado desde o começo. Não sei se te agrada, mas acho que a maioria dos leitores não conhece a sua história desde a infância... Bom, eu nasci em Garanhuns em 1945, dia 27 de outubro. Em 1952, minha mãe veio para São Paulo. Meu pai já tinha vindo em 1945, ano em que eu nasci. Minha mãe veio sete anos depois e eu tenho sete irmãos. Tinha 12, cinco morreram. E quando viemos para São Paulo, fomos morar em Santos. Ficamos em Santos até 1956, então viemos para São Paulo e, por coincidência, vim morar neste bairro aqui, na Vila Carioca. Comecei a minha vida de trabalhador trabalhando de tintureiro, depois ajudante de escritório. Em 1959, surgiu uma vaga para estudar no Senai e fui para a fábrica de parafusos Marte, para fazer o curso do Senai. Me formei torneiro-mecânico em 1963. Em 1969, fui convidado para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na verdade, quem tinha sido convidado era o meu irmão, Frei Chico, que era militante sindical e não aceitou e pediu para o pessoal me convidar. SÉRGIO DE SOUZA - É verdade que você veio de pau-de-arara? É, viemos de pau-de-arara. Aliás, a minha vida tem uma marca muito grande com o 13. A minha mãe vendeu as terras dela em Pernambuco por 13 contos de réis. Nós saímos de Pernambuco dia 13 de dezembro, demoramos 13 dias para chegar a São Paulo. Quando fui preso, a somatória do número do meu registro era 13 e criei um partido que é 13. José Arbex Jr. - Quando o teu irmão te indicou para o sindicato, você já tinha preocupação política? O golpe de 64 quis dizer o quê para você? Não queria dizer nada. Na época, eu tinha 18 anos e gostava mesmo era de jogar bola, de
_84/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dançar quinta, sábado e domingo, de ir à missa das 6 no domingo para ver se arrumava namorada e ler a coluna do Guzman (cronista de futebol), porque era corintiano fanático e lia o Diário da Noite. A minha iniciação política se deu em 1968, quando meu irmão me convidou para ir a uma assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Era uma discussão sem nenhuma importância, indicação de um delegado do sindicato para um congresso de previdência social, e saiu um pau na assembleia! Cadeirada para tudo quanto é lado! Porque o sindicato era dividido em dezenas de tendências. Tinha AP, Polop... Eu não manjava nada, e o meu irmão era do partidão. E, por conta daquela briga, passei a gostar do sindicato (risos), comecei a frequentar. Lembro até hoje o número da minha matrícula – 25.986 –, de setembro de 1968. Não era um momento fácil para você ir para o sindicato. Eu estava com o casamento marcado e a minha mulher não queria que eu fosse porque ela ouvia, na fábrica em que trabalhava, que quem fosse para o sindicato podia ser preso, era mandado embora e não arrumava mais emprego. JOSÉ ARBEX JR. - Por que você não foi para o PC, onde teu irmão militava? Primeiro, porque não tinha nenhum interesse em política partidária. Esse interesse só veio a partir de 1978. JOSÉ ARBEX JR. - Com as greves? Não tanto por causa das greves. Por conta de uma lei que o governo queria aprovar, uma lei que criava as chamadas “categorias essenciais”, e fui a Brasília conversar com os deputados. E lá descobri que não tinha ninguém dos trabalhadores. Então, voltei com um nó na cabeça: como é que a gente quer que sejam feitas leis em benefício dos trabalhadores, se lá não tem trabalhador?
Minha vida tem uma marca muito grande com o 13. A minha mãe vendeu as terras dela em Pernambuco por 13 contos de réis. Nós saímos de Pernambuco dia 13 de dezembro, demoramos 13 dias para chegar a São Paulo. Quando fui preso, a somatória do número do meu registro era 13 e criei um partido que é 13. VERENA GLASS - Já tinha a central sindical? Não, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) nós criamos só em 1983. De 1969 a 1982, aconteceu um processo de aprendizado importante. E um dado também importante é que o sindicato do ABC já nasceu muito grande. Era mais avançado que a média dos sindicatos brasileiros porque tinha uma elite na categoria: os trabalhadores da indústria automobilística, que naquele tempo certamente ganhavam mais do que os jornalistas ganham hoje (risos). Os trabalhadores tinham um padrão de vida muito alto e, a partir de 1968, começaram a perder. Um trabalhador da Ford, da Mercedes, da Volkswagen, da Scania, na época, era o bambambã, era o que tinha o primeiro carro, a melhor casa, o que, todo dia de feira, a mulher dele voltava com o carrinho cheio de fruta. Na época do Natal, ganhava presentes, 13º, algumas montadoras davam 14º, ou seja, éramos um grupo de privilegiados no mundo do trabalhador brasileiro. A partir de 1968, começamos a perder, foram tirando as coisas! Tirando, tirando, foi começando o acirramento e combinou com o movimento da sociedade brasileira por democracia. O MDB já tinha tido aquela votação extraordinária em 1974, que elegeu 16 senadores, então a sociedade já estava num processo de movimentação muito grande para mudar o regime militar. Em
1974, fizemos o primeiro congresso dos metalúrgicos. Hoje, falar para uma pessoa que fizemos um congresso em 1974, ela fala: “Bela porcaria fazer um congresso!”. Naquela época, se você fizesse, no dia seguinte ia para o Dops para dar esclarecimento, às vezes três, quatro horas de depoimento! JOSÉ ARBEX JR. - Acho um pouco intrigante o fato de ter surgido no Brasil uma corrente de trabalhadores que não tenha se filiado nem ao PCB, quer dizer, havia uma certa tradição de organização operária junto às organizações mais antigas. De onde surgiu essa camada de trabalhadores que se recusou a integrar as organizações tradicionais? Primeiro que, nesse tempo, todos esses partidos eram clandestinos. Você nem sabia quem era do PC, do PCdoB. Vou dar um exemplo: o meu irmão Frei Chico, quando foi preso, a mulher dele não sabia, ninguém da minha família sabia, ele nunca me disse que era do PCB. JOSÉ ARBEX JR. - O PCB não era uma opção natural dos trabalhadores? Não, porque o PCB estava na clandestinidade. A gente lia declarações do Prestes em Moscou. Tem um fato engraçado: nunca gostei de coisa clandestina. Quando participava de uma comissão metalúrgica lá em São Bernardo do Campo, às vezes, me convidavam para uma reunião às 9 horas da noite. Então eu ia para a casa do cara, normalmente tudo escuro, parecia que compravam uma lâmpada de cinco velas, e eu não via conteúdo nenhum na conversa que não pudesse ser feito em um bar tomando cachaça (risos), não conseguia entender essa clandestinidade alucinante. Tinha uma companheira nossa chamada Nanci, da Volkswagen. Um belo dia, estamos redigindo um boletim para soltar na Volkswagen e o advogado nosso, o Maurício – todo cara que, como ele, fez seminário, nor-
\85_
#05_ Lula
malmente é bom escriba –, está fazendo boletim e essa menina, que até então a gente tinha como metalúrgica, começa a corrigir o Maurício (risos). Fiquei de olho. Um dia, estou no bar do sindicato, ela entra e fala para a mulher do bar: “Dá uma pinga com limão” (risos). Não era normal uma operária chegar num boteco e pedir uma pinga. Daí fomos descobrir que ela era estudante de jornalismo no Paraná e tinha vindo naquela ideia de liderar os operários. Naquela época, a bronca que eu tinha do movimento estudantil era que eles partiam do pressuposto de que nós éramos um bando de babacas, eles eram um bando de inteligentes e tinham que ir para dentro da fábrica para poder nos liderar. Não aceitávamos isso. JOSÉ ARBEX JR. - Eu queria chegar nisso: como se juntaram aos intelectuais como Marilena Chaui, Francisco Weffort? Aí é outra história. Começamos a nos juntar na greve de 1980. A diferença básica é que, quando resolvemos criar um partido político, começamos a perceber que era uma tarefa maior do que a de dirigir um sindicato. O meu discurso era para uma categoria e uma coisa direta contra o patrão que estava ali. Num partido político, você tinha que se abrir para outros setores da sociedade. Mas eu achava que os trabalhadores não precisavam de ninguém para dizer o que eles tinham que fazer, porque eles sabiam o que fazer. Era essa a nossa briga e, graças a essa briga, conseguimos fazer um dos movimentos mais importantes deste país. Então, o discurso político não pode ser o mesmo, até para falar com um bancário não posso fazer o mesmo discurso que fazia para um metalúrgico na porta de fábrica. Mais grave ainda, quando eu saía da porta da Volkswagen e ia para a porta de uma fábrica no interior, o discurso não podia ser o mesmo. O nosso era muito radical. A gente já estava reivindicando mais meio frango na alimentação. O
_86/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu era a figura mais importante do movimento sindical naquela época e, quando descobri que era preciso fundar um partido, que a gente não podia continuar votando no menos ruim, nas reuniões eu dizia: “Vamos criar um partido?”. Aí levantava um: “Não, não vamos criar porque isso e isso”. O outro: “Não, não...”. E eu achava que eles não queriam criar mesmo. Um ano e meio depois, fui descobrir que eles não queriam criar porque achavam que o deles já era o partido dos trabalhadores. Aí, graças ao Olívio Dutra, ao Jacó Bittar, ao Henos Amorina, ao Wagner Benevides, a uma meia dúzia de abnegados, a gente resolveu deslanchar o processo.
pessoal ainda estava reivindicando o primeiro restaurante para esquentar marmita. O desnível era tão grande que você tinha que medir o discurso. Essa é a razão pela qual não fui para o PCB. Uma coisa muito forte na minha cabeça é que a diferença fundamental nossa para o PCB era a seguinte: o PCB tinha como coisa importante pegar quadros politicamente preparados na universidade e colocar dentro da fábrica. A nossa ideia era tirar o trabalhador da fábrica e fazer com que ele fosse o agente político. Essa era uma diferença crucial e foi muito difícil porque eu não sabia quem era do partidão, quem era do MR-8, quem era do PCdoB, então íamos para uma reunião de sindicalistas – eu era a figura mais importante do movimento sindical naquela época e, quando descobri que era preciso fundar um partido, que a gente não podia continuar votando no menos ruim, nas reuniões eu dizia: “Vamos criar um partido?”. Aí levantava um: “Não, não vamos criar porque isso e isso”. O outro: “Não, não...”. E eu achava que eles não queriam criar mesmo. Um ano e meio depois, fui descobrir que eles não queriam criar porque achavam que o deles já era o partido dos trabalhadores. Aí, graças ao Olívio Dutra, ao Jacó Bittar, ao Henos Amorina, ao Wagner Benevides, a uma meia dúzia de abnegados, a gente resolveu deslanchar o processo. Verena Glass - O MST se baseia em grandes pensadores, Marx, Engels, Mao, o que seja, e depois tira o melhor e tenta adaptar ao movimento. Vocês se baseavam em algumas teorias de grandes pensadores ou só era aquilo mesmo das necessidades básicas? Era uma coisa mais instintiva, queríamos criar um partido político porque estávamos cansados de reivindicar. O meu grande problema com os companheiros que são hoje todos do PT, quando a gente ia convidar – companheiros como Geraldinho, o Genoino, o Aitan –, perguntavam o
seguinte: “O PT é tático ou estratégico?”. Eu dizia: “Pô, não quero discutir isso, só quero criar um partido, não me ponham minhoca na cabeça”. Demorou cinco anos para a gente resolver. A base nossa era juntar todos os trabalhadores, criar uma organização política e disputar o poder. Nós e meia dúzia de pessoas andamos este país inteiro, cansei de ir daqui para o Acre fazer reunião com dez pessoas, cansei de ir para o Mato Grosso fazer comício com cinco pessoas, e fazia com o maior orgulho, gritava como se tivesse um milhão de pessoas na rua. JOSÉ ARBEX JR. - Eu estava na Vila Euclides, em 1980, 81, não me lembro, quando o 2º Exército proibiu uma marcha que haveria da Vila Euclides para a Matriz. Primeiro de maio de 1980. JOSÉ ARBEX JR. - Lembro que, na noite anterior, tinha acabado o estoque de arma branca em São Bernardo. Os trabalhadores compraram o estoque de armas brancas. O 2º Exército chegou a apontar os fuzis contra a manifestação, e eu vi mães espontaneamente indo conversar com os soldados e os soldados começarem a baixar os fuzis. Soube que a própria Polícia do Exército foi mobilizada e se recusou a cumprir a ordem de disparar contra a multidão. A impressão que tive é que, se houvesse um tiro ali, ia estourar uma guerra civil no país. Você compartilha dessa avaliação, chegou a acreditar que o processo que levou à formação do PT poderia desembocar em uma luta de grandes proporções desse tipo? Eu estava preso nesse 1º de maio. Fui preso dia 17 de abril. Soube pelos companheiros da diretoria que estavam lá, pelos jornais e pelo rádio. O que eu sei é que durante muitos momentos, entre 78 e 80, não aconteceram coisas maiores no ABC porque a gente da diretoria não deixava acontecer. Por exemplo, numa greve que a gente
\87_
#05_ Lula
perdia, trabalhadores queriam pegar a linha de produção de robôs da Volkswagen e fazer alguma coisa para ela não funcionar mais. Uma vez tive que segurar um trabalhador entrando com umas bombas dentro da calça. A gente tinha que pegar o cara, convencer que aquela não era a luta correta naquele momento. Outra vez, o pessoal queria tocar fogo na Brastemp, e a gente tinha que convencer as pessoas politicamente que não era necessário fazer aquilo. Eu digo para você que, se alguém dá um tiro naquele 1º de maio, teria uma carnificina em São Bernardo. Não sei se estouraria uma guerra civil, mas tinha muito trabalhador preparado, muitos trabalhadores que a gente passava semanas tentando mostrar para eles que esse caminho é o fim do que a gente está pensando em fazer. Nós não temos como resistir se começar uma coisa dessas. Mas por que o Exército desistiu de atacar? Eles chegaram primeiro, tinha um grupo de pessoas, eles cercaram aquelas pessoas, só que depois foi chegando muita gente, muita gente e, de repente, você tinha cem mil pessoas, e em cem mil pessoas tem gente com disposição para tudo, é só começar. Acho que mais por medo do que por prudência eles resolveram bater em retirada. Um dado importante da greve de 80 é o seguinte: foi a greve em que não ganhamos absolutamente nada, perdemos economicamente o que não tínhamos, entretanto, foi a greve em que mais ganhamos politicamente. CARLOS AZEVEDO - Por quê? Porque saímos com o bolso vazio, mas com a cabeça cheia. Ali, a gente estava convencido de que a organização política era necessária. Foi a greve mais importante da minha vida, o salto de qualidade, até porque dimensionou a força do trabalhador. JOSÉ ARBEX JR. - Para fazer uma analogia com o MST: quando ele ocupa prédios públicos
_88/
18 entrevistas _ revista caros amigos
ou ameaça ocupar a fazenda do nosso amado presidente, tenho a sensação de que muitas vezes ocorrem situações potencialmente explosivas como aquelas da greve de 80 com relação ao PT. Você acha que o MST pode ser um fator de precipitação de enfrentamento com a conjuntura política? Não sei se, a partir do MST, você pode ter uma coisa maior. O enfrentamento que o MST tem hoje com o latifundiário é até mais grave do que o que a gente tinha com os empresários, porque ele é menos civilizado que o empresário da cidade. Muitas vezes, o dono nem está aqui no Brasil, está no exterior. Por pior que fosse, você pegava um diretor de produção da Volkswagen, ele já tinha sido sindicalizado na Alemanha, era outro nível. O latifundiário, não! Ele contrata um capataz, um bandoleiro qualquer, e, para o cara puxar um gatilho, não precisa muito. Tenho a compreensão de que o Movimento Sem Terra é hoje o movimento mais sério que nós temos, acho que nem sempre acerta na política, e acho que a luta é mais do que nobre. Porque a reforma agrária é uma coisa tão antiga, que o que é descabido não é ver o sem-terra brigar por reforma agrária, é ver o governo, no final do século, agir como se estivesse no começo do século, como senhores de engenho, com a mesma postura. Os sem-terra nunca invadiram a fazenda do presidente, eles apenas acamparam na porta da fazenda como se estivessem fazendo um piquete. Quem ocupou a fazenda do presidente foi o Exército, a mando dele. O Fernando Henrique Cardoso poderia contratar um capataz, não precisava o Exército para tomar conta da fazenda dele. Os sem-terra queriam chamar a atenção para um problema sério, que era a falta de financiamento, a falta de recursos que o governo tinha prometido, e qual é o mal nisso? O Fernando Henrique Cardoso agiu como se fosse o maior troglodita, sem compreensão do problema social. Porque, veja, a lei garante a reforma agrária, a terra existe, a úni-
ca coisa é o poder de uma oligarquia atrasada, que não entende que é para o bem desse país, que é uma questão de justiça social, e virou uma questão de honra derrotar os sem-terra politicamente, quando o problema não é só os sem-terra! São outros milhões que não estão organizados no movimento e que precisam da reforma agrária! Uma coisa bem organizada, com terra, com assistência técnica, financiamento, seguro agrícola, organização dos trabalhadores em cooperativas, em agroindústrias familiares. Os sem-terra mesmo têm tantos exemplos extraordinários de assentamentos que estão produzindo, que deram certo! Existem outros assentamentos, que são da Contag, que têm dado certo! É só o governo quantificar isso em nível nacional e falar: “Ó, vamos fazer reforma agrária!”. Em Santa Catarina, por exemplo, você percebe que as regiões mais desenvolvidas são aquelas onde predomina a pequena propriedade. Não se justifica num país, por maior que seja, ter alguém com 30 mil alqueires de terra! Dois milhões de hectares de terra! Isso não tem justificativa em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil. Porque temos um presidente covarde, que fica na dependência de contemplar uma bancada ruralista a troco de alguns votos. MÁRCIO CARVALHO - Você acha que é só falta de vontade política? Eu acho. Veja, não se pode alegar que é problema de dinheiro. Porque um governo que tem a insensatez de gastar 5 bilhões e 800 milhões de reais para sanear o Banestado, no Paraná, para vendê-lo por 1 bilhão e 650 milhões, sabendo que os 300 por cento que eles pagaram de ágio vão ser descontados do imposto de renda, e que o banco tem para receber de títulos 1 bilhão e 750 milhões de crédito, então isso significa que o Itaú ganhou de graça esse banco. Um governo que libera só para a Volkswagen, do dinheiro do BNDES, do dinheiro do FAT, 800 milhões para ela fazer uma reestruturação produtiva,
O Fernando Henrique Cardoso poderia contratar um capataz, não precisava o Exército para tomar conta da fazenda dele. Os sem-terra queriam chamar a atenção para um problema sério, que era a falta de financiamento, a falta de recursos que o governo tinha prometido, e qual é o mal nisso? não pode alegar que não tem dinheiro! Só pode ser duas coisas. Primeiro: o Fernando Henrique Cardoso não acredita na agricultura como um dos pilares do desenvolvimento do Brasil. A cabeça da equipe econômica não acredita numa coisa chamada pequena propriedade. A cabeça do Malan funciona assim: o Brasil tem que ter um modelo agrícola de grandes extensões de terra, produção em escala totalmente mecanizada. Essa é a cabeça dele! Esse negócio de pequena propriedade é para comunista. É exatamente isso que eles pensam. Essa é uma possibilidade. A outra é a falta de determinação política: “Eu vou fazer!”. Eles preferem viver de mentiras. O Fernando Henrique Cardoso confunde a regularização do título de terra com assentamento. Ele pega a pessoa que está há cinquenta anos na terra, dá o título e fala: “Estou assentando”. Não está assentando, não! Está apenas reconhecendo. Assentar é pegar quem está fora e colocar dentro para trabalhar! E por uma razão simples, gente. Tenho dito isso em todos os debates: a grande coisa que o Movimento Sem Terra faz hoje, no Brasil, não é a luta pela reforma agrária, porque ela existe antes, durante e vai existir depois. O grande feito do Movimento Sem Terra é recuperar o sentido da cidadania de pessoas que estavam a um milímetro de virar párias da sociedade. O governo deveria falar: “Puxa vida, se eles têm capacidade de fazer isso, vou incen-
\89_
#05_ Lula
tivar para a gente poder resolver um dos graves problemas deste país, que é nego dormindo embaixo de ponte, nego repartindo o metro quadrado com rato, nego morrendo de fome”. JOSÉ ARBEX JR. - De certa forma, o MST está conseguindo dar visibilidade e voz a um setor da sociedade que o PT nunca atingiu. O PT atingiu os trabalhadores assalariados, que têm carteira de trabalho, têm endereço, em geral almoçam e jantam todo dia etc. O MST, não. Ele está atingindo uma parcela da sociedade que muitas vezes não tem moradia, não tem nem o que comer. Você não acha que é isso que está assustando as elites, o fato de que, pela primeira vez na história do Brasil, pessoas que nunca tiveram voz nem visibilidade estão tendo agora através do MST? Veja, eu acho que muita coisa assusta a elite brasileira. Não é só o Movimento Sem Terra. Você tem o Movimento Sem Teto aqui em São Paulo... JOSÉ ARBEX JR. - Que é inspirado no Sem Terra. As ocupações de casas foram muito mais fortes na década de 70. Conjuntos inteiros do BNH foram invadidos pelo país afora e as pessoas conseguiram, com muita resistência, ter casa própria! Você vai em Santo André, São Bernardo, você vai na Bahia, vai encontrar conjuntos de milhares de casas que foram invadidas e ocupadas por trabalhadores. Já tivemos, na década de 70, o movimento de saúde nas grandes cidades, era uma coisa muito séria... WAGNER NABUCO - A luta contra a carestia... Também. A história do Brasil é cheia de movimentos dessa grandeza. E esse é um desafio do PT. Tenho dito nos debates do PT que a base originária do partido está diminuta, hoje. Por quê? Porque o PT nasceu da chamada sociedade organizada, das diferentes categorias de funcionalismo público, trabalhadores metalúr-
_90/
18 entrevistas _ revista caros amigos
gicos, gráficos, químicos, dessa gente que, na medida em que tem uma crise econômica, está hoje menor – o mercado de trabalho está menor do que já foi, muita gente que era metalúrgico hoje é lúmpen, já teve carteira profissional assinada e está dormindo embaixo de ponte e trabalhando de camelô. Isso significa que o PT tem dois desafios importantes para o próximo período: um é manter uma política de convencimento dos setores médios da sociedade de que eles têm que ser aliados dessa gente que ainda não conquistou a cidadania neste país. E o outro é tentar mostrar para essa gente que está a um milímetro de cair na mendicância que nós podemos ser um instrumento para mudar. É importante lembrar que é essa parte da sociedade a mais vulnerável ao populismo, à política do “é dando que se recebe”, da compra de votos em época de eleição, porque muitas vezes não é só o discurso. Muitas vezes, você faz o discurso ideológico e vira as costas. O outro chega com uma cesta básica e, a necessidade é de tal ordem, que a pessoa, mesmo tendo orgulho, tendo consciência, sabe que precisa comer, dar comida para o filho. O nosso discurso, o discurso dos sem-terra, o discurso da CUT atingem uma parte minoritária. A grande massa de deserdados não está organizada no Sem Terra, no PT nem na CUT. Ela estava muito mais ligada com setores da Igreja quando tinha Igreja progressista mais atuante. Na medida em que o papa tratou de fazer um trabalho de reduzir a potência da chamada Igreja progressista no Brasil, esse setor ficou mais vulnerável. Esse é o desafio, e não é de hoje a minha preocupação. Antes de Paulo Freire morrer, eu tinha feito uma reunião com ele para a gente juntar um grupo de educadores e começar a pensar uma nova metodologia de discurso, para ver se conseguíamos trazer essa gente. O Aziz, que viajou comigo nas caravanas, viu em tantos lugares deste país gente faminta com a mesma vonta-
O mercado de trabalho está menor do que já foi, muita gente que já teve carteira profissional assinada e está dormindo embaixo de ponte e trabalhando de camelô. Isso significa que o PT tem dois desafios importantes para o próximo período: um é manter uma política de convencimento dos setores médios da sociedade de que eles têm que ser aliados dessa gente que ainda não conquistou a cidadania neste país. E o outro é tentar mostrar para essa gente que está a um milímetro de cair na mendicância que nós podemos ser um instrumento para mudar. É importante lembrar que é essa parte da sociedade a mais vulnerável ao populismo, à política do “é dando que se recebe”, da compra de votos em época de eleição, porque muitas vezes não é só o discurso. Muitas vezes, você faz o discurso ideológico e vira as costas.
de de brigar que um metalúrgico com 20 greves nas costas, ou como um sem-terra na beira do acampamento. Tem uma grandeza de organização que ainda não foi juntada. Porque também não é fácil você dar o salto de luta específica para a política. Muita gente pensa que é automático. Eu invado uma terra hoje, já estou politizado para votar. Não. É um processo entre a luta específica e o passo político. A pessoa que faz uma greve ou ocupa uma terra não está necessariamente com clareza política, às vezes vota no prefeito do PFL. E a gente não deve incriminar, deve saber que a politizou para aquela ação específica, mas não para outras coisas. Tenho uma tese comigo que, se estiver errada, alguém vai escrever que está errada. Muita gente do PT fala: “Precisamos ganhar setores médios”. Eu acho que nos setores médios até estamos de razoáveis para bons, porque os setores médios já estão mais ou menos definidos ideologicamente, são do nosso lado, ou do PCdoB, do PSB, do PV, do PSTU, ou do PSDB. Agora, essa outra parte não está. Por isso, a direita ganha nos grotões, exatamente onde predomina a maioria. Tenho uma vontade maluca de um dia ir numa cidade chamada Teotônio Vilela, em Alagoas – o Collor teve 90 por cento dos votos lá! Quero saber o que justifica um povo daquele votar no Collor. Então, o desafio nosso é esse. Daqui para frente vamos ter que trabalhar com muito carinho, tentar fazer com que essa gente deixe de ser marionete na mão de um Maluf. Não é possível o Maluf fazer campanha dizendo que é o candidato dos pobres da Zona Leste! WAGNER NABUCO - Em 1978, para eleição de senador, havia três candidatos: Montoro e Fernando Henrique pelo PMDB e o Lembo pela Arena. Você fez a campanha do Fernando Henrique. Eu votei nele e fiz campanha também. Ele enganava já naquele período ou mudou, gostou do poder?
\91_
#05_ Lula
Esse é o tipo de coisa de que não tenho arrependimento. Porque a gente tem que analisar a história política pelo momento em que a história se deu. Votar num Quércia, em 1974, era votar num cara que se opunha ao Carvalho Pinto, que era o representante do regime militar. Nesses dias, fui a Belém do Pará e disse para os companheiros de Belém: “Votar no Jáder Barbalho em 1980 era a única opção que a esquerda tinha contra o Jarbas Passarinho”. Então, não tenho nenhum arrependimento de ter votado em Fernando Henrique Cardoso em 1978. Continuo com o mesmo pensamento, ele é que mudou. E quando é que ele mudou? Quando percebeu que era possível chegar ao Senado. Ele estava para vir para o PT, mas depois percebeu que poderia ir para o Senado porque o Montoro ia ser eleito governador (FHC era suplente de Montoro) e pensou: “Bom, entre fazer essa opção e ficar, vou ficar”. Ficou do lado de lá e só vem piorando. Na minha opinião, tem o dedo do Fernando Henrique Cardoso na votação das Diretas. Ele era contra aprovar as eleições diretas naquele momento porque o candidato para presidente da República era o Ulysses Guimarães e não o Tancredo Neves. Eles começaram a inventar que o Ulysses não seria digerido pelo regime militar. Que era preciso alguém que tivesse maior condescendência, que tivesse maior capacidade de articulação, de perdão. E articularam o fim das Diretas, mudaram o Diretas Já! para Mudança Já! FERNANDO DO VALLE - “Eles” quem? Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, uma turma que mudou. Para pior, lamento profundamente. Eu achava o Montoro muito populista, e quis apostar num cara novo – Fernando Henrique Cardoso chegou com uma imagem de intelectual progressista. Eu falava: “Vamos apostar em alguém novo”. E não deu certo, paciência. FERNANDO DO VALLE - E hoje você conversa com ele?
_92/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Não tenho nenhum arrependimento de ter votado em Fernando Henrique Cardoso em 1978. Continuo com o mesmo pensamento, ele é que mudou. Ele estava para vir para o PT, mas depois percebeu que poderia ir para o Senado e pensou: “Bom, entre fazer essa opção e ficar, vou ficar”.
Não. Não tem conversa com ele. O Fernando Henrique Cardoso, dia 6 de dezembro de 1998, telefonou cinco vezes para minha casa, querendo conversar comigo. Depois das eleições. Eu fui falar com o Fernando Henrique Cardoso achando que ele tinha alguma coisa séria para conversar comigo, porque não é normal, em nenhum lugar do mundo, o presidente da República ligar cinco vezes querendo conversar com quem tinha acabado de sair de uma eleição disputando com ele. Fui conversar, até sem pedir licença para a direção do partido, por quê? Porque eu estava em Brasília, toca o telefone, é o Fernando Henrique Cardoso: “Preciso conversar com você hoje”. Eu falei: “Presidente, não posso, que eu estou numa reunião da bancada”. Ele falou: “Se você não puder vir hoje, amanhã de manhã eu mando o carro buscar, você vem tomar café comigo. Preciso conversar com você!”. Pensei: Alguma coisa grave está acontecendo neste país! Telefonei para o companheiro Cristovam Buarque, ele foi junto comigo. Chego lá, percebo que ele não queria conversar. A impressão foi que o Fernando Henrique Cardoso me chamou para conversar porque pensava que eu sabia mais sobre o dossiê das Ilhas Cayman do que sabia. SÉRGIO DE SOUZA - Ele chegou a tocar nisso? Chegou. Saí com a impressão disso.
SÉRGIO DE SOUZA - Como ele perguntou? Primeiro, ele me agradeceu. Porque, veja, nós não podíamos ter feito aquela denúncia. Já fui vítima de denúncia e nunca vou jogar fora uma coisa que trago do berço, ou seja, aquilo que não quero que façam comigo não faço com os outros. Era um dossiê que tinha me chegado primeiro, a história vocês já conhecem, a ideia chegou pelo Caio Fábio, primeiro a ideia de vender. Nós não compramos informações, não faz parte da formação do PT. Pedimos para o Brizola dar uma estudada com o Nilo Batista. Eles já tinham dado a impressão de que não era bom. Aí estou fazendo um comício em Brasília e recebo um telefonema do Gushiken: “O Lafaiete Coutinho precisa conversar com você, a pedido do Maluf”. Faltavam três dias para as eleições! “E é muito urgente!” Eu falei: “Gushiken, você vai estar junto?”. “Vou.” “Então manda me esperar no hangar da TAM.” Aí cheguei lá: “Olha, tem uma denúncia muito séria contra o Fernando Henrique Cardoso, envolve 360 milhões de dólares no exterior, numa conta do Mário Covas, do José Serra, do Fernando Henrique Cardoso e do Sérgio Mota, e é muito sério”. Falei: “E os documentos?”. “Os documentos só posso dar se vocês se comprometerem a denunciar”. Falei: “Mas, escuta aqui, por que nós, do PT, e não vocês mesmos denunciarem”. E ele: “Se a denúncia for feita pelo Paulo, ninguém acredita, então tem que ser feita por alguém que tenha credibilidade”. Obviamente que, se você tem uma denúncia desse porte, eu não vacilaria em denunciar, mas também jamais denunciaria um dia antes das eleições. E espero morrer sem ter prestado um favor ao Maluf! Veja, o Mário Covas é uma pessoa com que eu tenho muito boa relação. É um homem que aprendi a respeitar na Constituinte, e antes dela, um homem que teve uma vivência na luta democrática muito forte. E eu não ia fazer isso. De qualquer forma, eu disse: “Vamos estudar, vamos entregar isso na mão de
um advogado insuspeito, vamos entregar nas mãos do Márcio Thomaz Bastos”. O Márcio Thomaz Bastos leu e falou: “Tem indício, mas não tem prova. Fazer uma denúncia dessas é grave se você não tem dados para provar”. Logo em seguida, recebo um telefonema da Marta – que tinha sido procurada pelas duas filhas do Maluf – com a mesma preocupação. Aí não fizemos a denúncia. O Márcio Thomaz Bastos e a Marta resolveram contar para o Serra, e aí passaram as eleições, o Fernando Henrique Cardoso me chamou, fui lá e achei que era um pouco isso que ele estava querendo saber. Comecei a discutir com ele a questão da reforma agrária, a da Previdência Social, a do acordo com o FMI, e ele começava a dizer que eu estava enganado, que ele estava certo, e eu falei: “Fernando, então não vamos mais conversar sobre política, vamos conversar sobre futebol, que é melhor”. Aí acabou a conversa. AZIZ AB’SABER - Lula, só para descansar um pouquinho, eu queria fazer um rol de registros sobre os retrocessos que esse país tem no momento extremamente importante da história que é o fim do ano 2000 e o fim do século etc. Um retrocesso tão grande por causa da direita e por ela não poder compreender como é que o Partido dos Trabalhadores ascendeu. Ela não entende, ela tem medo. Então, o Partido dos Trabalhadores passou a ter uma responsabilidade muito maior hoje do que em quase todos esses últimos 20 anos. O que fazer para realmente acertar, numa atmosfera de pressão da direita e da centro-direita contra o Partido dos Trabalhadores e contra um líder popular que conseguiu fazer uma coisa que os outros não fizeram. Nas Caravanas da Cidadania, você visitou o Brasil e ouviu as pessoas, está muito mais preparado em termos de conhecimento de Brasil do que todos eles, incluindo o Fernando Henrique
\93_
#05_ Lula
Cardoso, que talvez conheça mais alguns países do exterior do que o Brasil como um todo, um país que tem subdesenvolvimentos, as pessoas perdidas na beira do igarapé, no meio dos rústicos sertões marginalizados, e gente sendo gerada à vontade, que depois que cresce quer uma solução, e a solução está escrita naqueles lugarzinhos que nós passávamos, na porta dos bares: “A solução é São Paulo”. Para vender passagens e mandar o pessoal para cá de qualquer jeito. Um país que pede da universidade que ela faça um esforço muito grande em recuperar o conhecimento acumulado dentro do melhor nível, que produza conhecimentos novos, que descubra as aplicabilidades desse conhecimento, e isso precisa ser dito para todas as lideranças sindicais. Não adianta o conhecimento compartimentado e fechado, é preciso descobrir as aplicabilidades e, dentro delas, aquela que é a prioritária para poder fazer projetos que interessem mais diretamente à sociedade, para a soberania do país, para evitar as pressões internacionais fantásticas que o Brasil está sofrendo. A população está em processo de desespero. Comecei uma série de atividades em umas periferias aí, tentando saber coisas do homem da periferia, excluído de tudo. O que o PT pode fazer por ele? Eu queria uma opinião sua sobre a renda mínima para aqueles que estão desesperados, que têm cultura popular, sabem discutir as suas coisas e não têm força nenhuma para encontrar um espaço. Sou um privilegiado, um trabalhador nato, porém, trabalhei 40 anos na universidade e continuo dando meu trabalho graciosamente para a universidade, mas vivo muito próximo de uma periferia carente. Para mim, é desesperante entrar na padaria. Vou comprar um certo número de pãezinhos, chega um menininho e diz: “Por favor, dois pãezinhos!”. Não preciso dar outro exemplo, dois pãezinhos são 20 centavos.
_94/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Em um momento em que o dólar custa 2 reais, então fico pensando assim: “Temos que dar uma volta por cima na maneira de interpretar essas desigualdades que não são quaisquer não, são imensas, são fantásticas”. Então, a minha preocupação é, em primeiro lugar, reconhecer o retrocesso. O retrocesso é visível em todas as áreas. A universidade brasileira já foi melhor do que hoje, já formamos intelectuais mais comprometidos ideologicamente, pessoas que tinham preocupação em estudar o Brasil, em estudar os problemas sociais, em dar parte de seu conhecimento para ajudar a salvar este país. Hoje, as universidades estão mais preocupadas em formar o profissional para prestar serviços para alguma empresa. Fico com pena quando vejo um jovem chegar à universidade pensando apenas em resolver o problema dele. Isso tem uma razão de ser: como é que pode um país do tamanho do nosso, o mais importante da América do Sul, ser o último a ter uma universidade? Porque temos, ao longo da história, uma elite perversa. Eu falo sempre da revolução de 1817, a Revolução Pernambucana. Pernambuco conquistou sua independência quatro anos antes da Independência do Brasil e, nessa revolução, a preocupação da elite – os donos de engenho que lutavam contra a Coroa portuguesa – era não permitir que índios e negros participassem, porque depois iriam querer participar também do poder. Esse é o retrato da elite que ainda hoje governa o Brasil. No Nordeste, quem governa hoje descende daquela mesma gente. Mudou pouquíssima coisa. Fui a Belém fazer uma visita à favela próxima da universidade federal e o que mais me deixou horrorizado é que a universidade não tinha nada a ver com aquela favela. Era como se fosse num outro país, num outro mundo. Então, ou mudamos isso ou este país vai continuar sendo atrasado. Foi o último país a garantir voto da mulher, o último a conquistar a independência, o último a abolir
a escravidão, ou seja, estamos sempre atrás. Quando lembro que a Venezuela proclamou a independência quase 80 anos antes do Brasil, dá para imaginar o tipo de gente que mandava neste país. Então, a começar pela universidade, a regressão a gente vê pela escola pública. AZIZ AB'SABER - O que eu sinto na mocidade universitária, independentemente se ela tenha origem A, B, C, classe média ou não, é exatamente o oposto daquilo que estamos criticando, porque a mocidade reage extraordinariamente a favor do social. Sou obrigado a dizer isso porque senão estou criticando minha universidade sem falar do lado extremamente bom que eu sinto nos moços, e isso é uma grande condição de melhoria da situação. Critico a universidade por causa do especialista, por causa do... Mas eu critico a universidade. AZIZ AB'SABER - Pode criticar, mas tem que reconhecer esse dado. A minha primeira briga com a universidade foi na greve da Scania. Descobri que tinha um monte de engenheiros fazendo estágio que se colocavam contra a greve. Fui lá fazer um discurso, dizendo que não era possível o Estado financiar as pessoas para estudar e depois elas se colocarem contra os trabalhadores, que em última instância era quem financiava os estudos deles. Obviamente que você não pode generalizar, porque tem gente boa. Mas as escolas públicas, 40 anos atrás, eram motivo de briga para as pessoas frequentarem. Hoje, se as pessoas quiserem estudar mais ou menos, vão ter que ir para uma particular, pagar 700, 800 reais por mês. Houve uma regressão ética no país. Essa coisa está degenerada. A juventude não tem muito no que se espelhar quando vê a sua classe política na televisão, quando vê o presidente comprando voto, quando vê um Hildebrando, um Luiz Estevão,
Hoje, as universidades estão mais preocupadas em formar o profissional para prestar serviços para alguma empresa. Fico com pena quando vejo um jovem chegar à universidade pensando apenas em resolver o problema dele. Porque temos, ao longo da história, uma elite perversa. Eu falo sempre da revolução de 1817, a Revolução Pernambucana. Pernambuco conquistou sua independência quatro anos antes da Independência do Brasil e, nessa revolução, a preocupação da elite era não permitir que índios e negros participassem, porque depois iriam querer participar também do poder. Esse é o retrato da elite que ainda hoje governa o Brasil. No Nordeste, quem governa hoje descende daquela mesma gente. Mudou pouquíssima coisa.
\95_
#05_ Lula
um Maluf, um Pitta. E aí a imprensa joga um papel equivocado quando fala mal do Congresso como um todo. Me lembro que ficava muito zangado quando era constituinte e ia de segunda a domingo trabalhar e a imprensa falava dos faltosos, dizia: “O Congresso está vazio”. Mas não dizia que a gente estava lá. Então isso vai criando uma animosidade generalizada, o que é ruim, inclusive, para politizar a sociedade. Eu sobrevoei São Paulo duas horas de helicóptero. Confesso a vocês o seguinte... CARLOS AZEVEDO - Quando foi isso? No começo do ano, logo quando o PT escolheu a Marta para ser candidata. Confesso que, quando vejo essa gente com essa incompetência para governar, por Deus do céu, não troco meu conhecimento pelo deles. Obviamente que levo a desvantagem de não ter um diploma universitário e isso, em um país colonizado como o nosso, pesa. Mas as pessoas que governaram São Paulo e permitiram a ocupação desordenada da cidade, quando vejo a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, penso: “Como é que essas pessoas foram construir as marginais dentro dos rios?”. Já se sabia que ali dava enchentes, pega área de manancial, então... Sobrevoamos as áreas de manancial ali na represa e está toda ocupada. E a culpa não é daquele pobre que ocupou. Porque não tem espaço para ele, e ele vai sendo empurrado ou para a beira da represa ou para a beira dos rios ou dos córregos ou para as encostas dos morros. Vai sendo jogado e o poder público, que deveria se antecipar e tomar providências, não toma. Até nesse aspecto acho que tivemos uma regressão de cabeça de gente pública, que pensasse um Brasil para 20, 30, 40 anos. Nós, do PT, temos um desafio, não podemos daqui para a frente nos contentar com orçamento participativo, com médico de família. Estamos desafiados a fazer mais e, se a gente não começar a discutir quais as novas coisas que temos que fazer, podemos ficar superados.
_96/
18 entrevistas _ revista caros amigos
SÉRGIO DE SOUZA - Mas você acha possível fazer sem os meios de comunicação? Acho que os meios de comunicação jogam um papel importante, mas confesso que, na minha vida, prefiro fazer mesmo sem eles do que ficar chorando a ausência deles. Nunca tive apoio deles para nada. Se você fizer uma análise desses últimos 20 anos, acho que não tem gente mais massacrada na imprensa do que eu. Entretanto, continuo vivo e com a mesma vontade que tinha antes. Às vezes, fico vendo o jornal Estado de S. Paulo, o jornal Folha de S.Paulo, jornal O Globo, eles pensam que são jornais nacionais, aí você anda 200 quilômetros e ninguém nunca ouviu falar. As pessoas vivem outra realidade. Temos que acreditar cegamente que a participação da sociedade é a única possibilidade de mudar as coisas. As caravanas, para mim, foram a universidade que não tive. Não acredito que alguém governe um país deste tamanho sem conhecer este país. Tem lugares em que se está vivendo a terceira revolução industrial e tem lugares em que não chegou a primeira ainda. Em São Paulo, tem o cara que vai no Banespa, pega 50 milhões de reais e não paga. Fui no Acre agora entregar cheque de Banco do Povo, o homem pegou 1.200 reais. Eu perguntei: “Mas, companheiro, o que você vai fazer com 1.200 reais para ficar quatro meses no meio do mato?”. Ele falou: “Vou comprar um burrico para não carregar mais as cargas nas costas, vou comprar charque, farinha, querosene, semente de arroz, feijão e muda de mandioca para plantar e, com isso, tiro por durante quatro ou cinco meses para trabalhar!”. Quer dizer, se você chegar à avenida Paulista e falar que alguém pegou 1.200 reais emprestados e estava satisfeito, ninguém acredita. Fui ao Ceará agora, lá tem um cartão de crédito de 20 reais. Vai na Paulista dizer que alguém tem um cartão de crédito de 20 reais. Vão falar: “Isso é piada”. É piada para nós. Agora, para um cara que chega na segunda-feira e não tem o que dar
Acho que os meios de comunicação jogam um papel importante, mas confesso que, na minha vida, prefiro fazer mesmo sem eles do que ficar chorando a ausência deles. Nunca tive apoio deles para nada. Se você fizer uma análise desses últimos 20 anos, acho que não tem gente mais massacrada na imprensa do que eu. de comer para os filhos e pega um cartãozinho com que pode comprar 5 quilos de farinha, 2 quilos de feijão... Pô, aquilo é um manjar dos deuses durante quatro ou cinco dias. É essa heterogeneidade que precisa ser compreendida pelos governantes. Se o Fernando Henrique Cardoso – não sou contra o presidente viajar, ele pode ir para a China, para a Líbia, para onde quiser – pegasse um barco e fizesse uma viagem como aquela que fizemos para a Amazônia, descesse em cada lugarejo e visse como vive aquele povo, ele iria perceber que, com pouco dinheiro, a gente geraria muito mais emprego, mais desenvolvimento para a realidade das pessoas ali. Você não pode governar o Brasil imaginando que todo mundo está vivendo na avenida Paulista. SÉRGIO DE SOUZA - Você acha que o PSDB vai conseguir um dia ter cheiro de povo? Não acredito. Uma das vontades que eu tinha de ganhar as eleições neste país era para colocar em um ônibus-leito todo o ministério e falar: “Vão andar 15 dias por este país! Vamos botar o pé na estrada e ver como vive essa gente, quais as necessidades dessa gente”. Não adianta falar que tem computador na escola. Tem criança que vai à escola e não consegue aprender porque não comeu o suficiente naquele dia. Acho
que Deus me deu uma virtude, não é virtude ser pobre, não, mas eu digo: trabalhava sábado o dia inteiro engraxando sapato porque o meu desejo era comer um pão com mortadela no final da tarde; então, quando comprava meia bengala com mortadela e uma tubaína, naquilo estava realizando meu sonho. Falo para as pessoas que levantava de manhã em Pernambuco e ficava acocorado perto do fogão de lenha, e a minha mãe pegava uma cuia, colocava farinha de mandioca pura e café preto, fazia um mingau e era aquilo que a gente comia. E saber que ainda hoje tem milhões de brasileiros que vivem nessa situação. Então, a regressão neste país é total e não terá solução enquanto for governado por gente que conhece o Brasil de cima, que conhece o Brasil teórico e não tem nenhuma vivência. WAGNER NABUCO - O Brasil nunca foi uma república realmente federativa. As questões sempre foram decididas no poder central. Então, por exemplo, você presidente da República tem que definir se os juros vão ser de 16,5 por cento ao ano ou se baixa para 14 por cento. Essa decisão é fundamental para o crédito, para as pessoas comprarem mais, para se desenvolverem, mas não interessa àqueles que compram títulos do governo e que são os grandes aplicadores e especuladores do Brasil, que compram os CDBs do governo e ganham os 18 por cento, a taxa básica. Essa não é uma questão dura? Não acho que é duro resolver, porque o mesmo governo que tem o poder de elevar os juros de 19 para 49 e meio por cento tem o poder de baixar. O Fernando Henrique aumenta os juros, mas, na hora em que é para baixar, ele diz: “O mercado é que vai decidir”. Eu acho que é uma decisão política. Obviamente, não é uma decisão política fácil, porque, se você toma posse hoje na presidência da República e está com os juros a 29, está com a economia comprometida
\97_
#05_ Lula
com a política de juros, está com a dependência do capital externo, você precisa saber quais as medidas que vai tomar e em que espaço de tempo, para fazer as coisas sem ir à bancarrota. Por isso é que, em 1998, um ano antes, a gente avisava que era preciso desvalorizar o real, que era preciso ir mudando a política cambial, para que o Brasil pudesse ter a sua moeda no valor correto, e não ficar naquela mentira de pagar juros exorbitantes para o capital externo vir para cá e, com isso, sustentar a estabilidade monetária que o governo criou. Acho que temos que ter uma meta e a meta de um país como o Brasil é acreditar que o que vai tornar este país grande é a sua capacidade de investimento no setor produtivo, o que vale para a agricultura e vale para a cidade. É por isso que na Constituinte aprovamos o juro de 12 por cento, o que já é um absurdo, porque, na Europa, a maioria dos países tem juro de 6 por cento, 3 por cento. Você pode ir reduzindo juros, as pessoas têm que aprender que dinheiro se ganha investindo na produção e não na especulação. Ninguém vai fazer bravata aqui, dizendo que vai encontrar os juros a 20 e vai reduzir para 5 no dia seguinte, porque pode contribuir para uma fuga de capitais sem precedentes na história. Mas você tem mecanismos e o governo tem obrigação de fazer com que os juros sejam compatíveis com os juros internacionais. JOSÉ ARBEX JR. - Mas a questão dele é outra: você pega, por exemplo, o Raúl Alfonsín, que é ex-presidente, mas deu uma declaração de moratória, e já vimos bolsas despencando, panes. Você acha que o Lula consegue governar com... Tem determinadas coisas que você faz sem falar, porque, se falar, não faz. Só no Brasil é que o político tem o hábito de querer dar respostas para tudo antes de ganhar. Acho que devemos ter alguns cuidados...
_98/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O Fernando Henrique aumenta os juros, mas, na hora em que é para baixar, ele diz: “O mercado é que vai decidir”. Eu acho que é uma decisão política. Obviamente, não é uma decisão política fácil, porque, se você toma posse hoje na presidência da República e está com os juros a 29, está com a economia comprometida com a política de juros, está com a dependência do capital externo, você precisa saber quais as medidas que vai tomar e em que espaço de tempo, para fazer as coisas sem ir à bancarrota. Por isso é que, em 1998, um ano antes, a gente avisava que era preciso desvalorizar o real, que era preciso ir mudando a política cambial, para o que o Brasil pudesse ter a sua moeda no valor correto, e não ficar naquela mentira de pagar juros exorbitantes para o capital externo vir para cá e, com isso, sustentar a estabilidade monetária que o governo criou.
JOSÉ ARBEX JR. - Mas você não acha que o nome Lula já fala, mesmo que ficando quieto? Não sei. Deixa contar uma coisa. Acho que tem muita gente que tem que ter medo do PT. Acho que empresário corrupto tem que ter medo do PT, pessoas que degradam o meio ambiente têm que ter medo do PT, pessoas que praticam corrupção têm que ter medo do PT, aqueles que querem manter relações com o Estado entrando pela porta dos fundos têm que ter medo do PT... MÁRCIO CARVALHO - Banqueiro? Tem que ter medo do PT. Não é normal num país os bancos ganharem o que estão ganhando aqui. Vou contar uma história para você ver que não é normal. Esses dias, eu estava fazendo um cálculo aqui com um especialista em briga com banco... WAGNER NABUCO - Como é um especialista de briga com banco? Um advogado que briga com banco (risos). Eu estava fazendo um cálculo que não sei se está correto porque tenho dois cálculos – um de um professor da USP e outro desse advogado. O professor da USP me mandou uma carta dizendo o seguinte: “Companheiro Lula, veja a situação do país: uma pessoa que depositou 100 reais na poupança no dia da implantação do real, 76 meses depois ganhou 203 reais de juros. Essa mesma pessoa que fez uma compra de 100 reais no cartão de crédito e não pagou, 76 meses depois está com uma dívida de 509.000 reais.” Eu achei que era muito, de 203 para 509 mil, chamei o advogado. O advogado fez a conta: os juros da poupança vão para 203 reais e do cartão vão para 127.000 reais. Não importa a diferença dos dois cálculos, é uma alucinação. Este país não pode ir para frente assim. WAGNER NABUCO - Você tem consciência do que significa o poder central. É muito diferente
de uma prefeitura ou de um governo de Estado. Significa o Exército, banqueiros... Tenho mais consciência do papel do presidente da República, do papel do Banco Central, do papel do BNDES, que são todos instrumentos de governo e que, portanto, é poder contra poder. E aí você, investido do cargo, tem que fazer valer o teu poder soberano. É por isso que acredito em muitas coisas. Pega o Rio Grande do Sul como exemplo. O Olívio Dutra teve a coragem de dizer: “Não vai dar para a Ford o que o Brito comprometeu”. Ganhou as eleições com esse discurso. A Ford foi embora, paciência. Sofremos? Sofremos, mas vamos dar a volta por cima. Se a gente não corre esses riscos, não faz nada. Estou convencido do seguinte: a possibilidade de fazer transformações no Brasil é muito grande. Quando a pessoa está no governo, o poder que ela tem. Imaginem uma coisa: um presidente de um banco central, que é um burocrata, tem como poder liberar 20 bilhões para três bancos quebrados! WAGNER NABUCO - Mas não libera os 2 mil de crédito para os sem-terra. Não libera porque não tem como definição prioritária isso. Não é porque tem dificuldade, é porque a cabeça dele não quer liberar. É por isso, pode ter certeza. Eu, um dia, sonhava assim: o PT chegar ao governo, vamos começar a fazer o orçamento pelo contrário. No Brasil, se discute sempre o custo de fazer as coisas. Um dia, vamos ter que discutir o custo de não termos feito essas coisas no tempo certo. Quanto custou para este país não ter feito reforma agrária 50 anos atrás? Quanto custou não alfabetizar o seu povo 50 anos atrás? Quanto custou não eletrificar o campo? É isso que tem de estar na mesa, o atraso a que este país se submeteu ao longo desses anos. E, às vezes, investe em empresas multinacionais que pegam o dinheiro, nem pagam e com dez anos vão embora. O Aziz viajou comigo na Caravana e viu a quantidade de cidades com parques indus-
\99_
#05_ Lula
triais falidos. Tudo dinheiro do BNDES: fábricas que nunca produziram nada, não deu certo o projeto. Dinheiro público e ninguém paga! Este país não suporta ficar mais 10, 15 anos nessa situação. Alguma coisa vai ter de acontecer. SÉRGIO DE SOUZA - E você acha que em 2002 isso pode acontecer, essa virada? Acho que pode. Tenho na cabeça que é muito mais difícil um partido chegar sozinho ao poder em um país heterogêneo, seja do ponto de vista cultural, seja do econômico. O PT vai ter que pensar esses próximos 12 meses com quem é possível construir uma aliança política. O lado de lá já sabe que, se vier dividido, vai tomar uma trolha, vai perder as eleições e corre o risco de não ir para o segundo turno. E que, como tem muito a perder, vai tapar o nariz e procurar encontrar alguém entre eles e tentar fazer uma frente única para nos enfrentar. Depende de construirmos, de nosso lado, uma frente. E, na minha cabeça, essa frente pode envolver o PPS, pode envolver o PMDB, essa frente envolve todos os partidos de esquerda... MÁRCIO CARVALHO - Até o PSDB? Não, porque o PSDB hoje é o coração do lado de lá. Eu lamento, eu não acredito que o PSDB venha. Alimentei ilusão com o PSDB em 1994, chegamos a discutir profundamente e, na hora em que a direita deu cama para eles, foram deitar na cama e me largaram no beliche. Então, não tenho mais razão para acreditar. De qualquer forma, acho que tem um jogo a ser feito com pequenos e médios empresários brasileiros, com pequenos e médios produtores rurais, com intelectuais, com setores médios, com o povo, fazer um pacto capaz de ter alguns compromissos básicos que vão ser cumpridos. E temos muitos adversários nessa história. MÁRCIO CARVALHO - Você não acha que podem mu-
_100/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dar o jogo no meio, por exemplo. Agora estão falando em parlamentarismo. Acho. Eles vão tentar tudo para evitar que o PT chegue ao poder porque eles sabem que a chegada do PT ao poder é o começo da execução de um projeto que pode mostrar que somos capazes de fazer coisas que eles não fizeram. Por exemplo, a questão da reforma agrária é condição de honra para nós. Porque está na base da criação do PT. A prioridade dos investimentos para pequenos e médios empresários, experiências como a do Banco do Povo vão ter que ser espalhadas aos milhares por este país. Eu não sei quem vai ser o candidato da esquerda. Estou deixando meu partido totalmente à vontade para um processo de debate e escolha de quem vai ser o candidato, dentro e fora do partido. Mas ninguém que for eleito em uma aliança conosco ou um candidato próprio do PT pode ter um discurso como o do De la Rúa. Ou seja, você ganha fazendo críticas ao Menem. Se eu ganhasse a Presidência para fazer o mesmo que o Fernando Henrique Cardoso está fazendo, preferiria que Deus me tirasse a vida antes. Para não passar vergonha. Porque sabe o que acontece? Tem muita gente que tem direito de mentir. O direito de enganar, eu não tenho. Há uma coisa que tenho como sagrada na minha vida: é não perder o direito de olhar nos olhos de meus companheiros e de dormir com a consciência tranquila de que a gente é capaz de cumprir cada palavra que a gente assume. E, quando não as cumprir, ter coragem de discutir por que não cumpriu. Esse jogo tem que ser feito no Brasil. Este país é muito grande, tem muitas condições. Nós, agora, vamos começar a fazer aqui no instituto um projeto de combate à fome e vamos provar que é possível garantir que cada brasileiro, por mais miserável que seja, tenha direito a tomar café da manhã, a almoçar e a jantar. Este país tem condições de produzir, tem condições de distribuir renda, tem um monte de condições.
JOSÉ ARBEX JR. - Deixe-me fazer uma pergunta pessoal. Acabou de fechar a última urna, o PT ganhou a Presidência, você viu o resultado, lembrou-se de 1979, a criação do PT. Hoje, o PT aparece como uma coisa que pode mudar o rumo da história da América Latina. Na tua cabeça, um sujeito egresso de Garanhuns, o que significa isso emocionalmente? É como a alegria de um pai quando o filho vira adolescente. Porque foi muito difícil criar o PT. Primeiro, eu era chamado pelos ditos comunistas como agente da CIA. Era chamado pelos trotskistas como a muleta da ditadura. Era chamado pela direita como comunista. Essas várias visões que tinham de mim me permitiram ter uma independência de agir sem precisar depender de ninguém. Lembro o que os intelectuais falavam do PT, o que escreviam, que o PT não era oportuno, não tinha espaço no Brasil, que a classe operária não estava preparada. E esse partido veio crescendo em 82, 86, 88, 89. Toda eleição nós crescemos um pouquinho. É degrau por degrau. Não tem nada de pular 16 degraus de uma vez, é um a um. E, hoje, falo sem medo de errar: o PT é o mais importante partido de esquerda no mundo. Temos o que existe de mais importante no movimento camponês ligado ao PT, o mais importante do movimento sindical, temos grande base intelectual. Eu diria que temos grande parte das pessoas de bem deste país no PT. E olha que não precisa escrever bem do PT, mas, se as pessoas não contassem tanta mentira do PT na imprensa, a gente cresceria ainda mais. MÁRCIO CARVALHO - Mas existe mesmo a possibilidade de a estrela do PT não sair candidato em 2002? Por que não outro companheiro? Por que eu, pela quarta vez? O que tenho dito é que a direção do partido fique totalmente à vontade e que não serei obstáculo para uma outra candidatura. Pelo contrário, minha disposição é ser cabo eleitoral.
Há uma coisa que tenho como sagrada na minha vida: é não perder o direito de olhar nos olhos de meus companheiros e de dormir com a consciência tranquila de que a gente é capaz de cumprir cada palavra que a gente assume. E, quando não as cumprir, ter coragem de discutir por que não cumpriu. Agora, tenho consciência também de que tenho um patrimônio construído com meu partido e que tem um peso. E, obviamente, isso tudo a gente vai ter que discutir em uma mesa. Vamos ter que discutir quem facilita a unidade, quem pode galvanizar todas essas forças. E, se chegarmos à conclusão de que não sou eu, não sou eu. Paciência, vai ser outro companheiro e eu quero estar lá, fazendo campanha do mesmo jeito. SÉRGIO DE SOUZA - Mas você é o favorito naturalmente. Não quero ficar trabalhando com pesquisa com dois anos de antecedência. Naturalmente, quero acabar com essa história do candidato natural do PT (risos). Porque, se eu deixar prevalecer, vou ser candidato toda vez. Então, prefiro discutir o seguinte: não preciso ser candidato para ter 30 por cento dos votos. É um patrimônio que já tenho. O que precisamos é pensar uma campanha para ganhar os 20 por cento que faltam. Qual é a estratégia, qual é a tática, qual é o candidato, qual é a aliança política. Uma coisa interessante: diziam muito que o PT era menor do que o Lula. Pela primeira vez, as pesquisas começam a dar o quê? Quando se pergunta qual é o partido com maior aceitação na opinião pública, há uma combinação do PT, uma média de 28 a 30 por cento. E também nós temos que apostar no crescimento da sociedade. Ela também evolui. Quinze anos
\101_
#05_ Lula
atrás, uma parte da sociedade não votou no Fernando Henrique Cardoso porque ele era comuna e ateu. E, nove anos depois, o elegeu presidente da República. Na medida em que a elite o adotou, acabou o preconceito. CARLOS AZEVEDO - Mas como a elite não vai te adotar... (risos) E nem quero. Se quisesse chegar ao poder pelos braços dela, já poderia ter chegado. Para mim, só tem sentido chegar ao poder se eu puder chegar acreditando no que acredito e fazer o que posso fazer. Se eu tiver que começar a utilizar as palavras “entretanto” e "porém", é melhor que seja outro. CARLOS AZEVEDO - E essa famosa rejeição a você, que no segundo turno não consegue... Não tem nenhum problema. Rejeição é uma coisa que pode cair de um dia para o outro. Hoje, tem um artigo: “Lula tem 35 por cento de rejeição”. Eu queria ter 49,99 e ter 51,01 de aceitação. É isso que me interessa (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Não existe uma evolução linear para sempre. Nós estamos falando aqui que o Brasil vem enfrentando uma regressão extremamente grave – se o povo sentir que a confiança que depositou no PT agora não correspondeu, acho que a evolução não vai continuar para frente. Porque estamos num momento decisivo para a história do Brasil. Duas perguntas: você acha que o PT está preparado para corresponder às expectativas que o povo depositou nele? E de que forma a gestão do PT nos governos municiais vai se articular com a campanha presidencial? Primeiro, acho que o PT já tem um acúmulo de experiência administrativa para provar que qualquer cidade pode ser governada por ele e obter sucesso. Todos os prefeitos vão pegar prefeituras em situação financeira difícil. O que eu
_102/
18 entrevistas _ revista caros amigos
tenho dito a meus companheiros é que a gente tem que superar as dificuldades administrativas do primeiro ano com a nossa capacidade de fazer política. Então, nesse primeiro ano, possivelmente, a gente tenha que fazer muita política, muita, e o partido não pode deixar na mão da prefeita ou do prefeito, o partido tem que ir para a rua e fazer política. CARLOS AZEVEDO - O que significa fazer política? Fazer política significa ir para rua e trabalhar, ir para os bairros organizar o povo. Cada coisa que você não puder fazer, ir conversar com o povo. Você não pode deixar que venha a crescer o antipetismo, como foi em 1992, com a Luiza Erundina. SÉRGIO DE SOUZA - Como você analisa essa vitória do PT nas eleições, já que estamos falando até em retrocesso. Acho que três coisas garantiram ao PT essa performance. Em primeiro lugar, coloco as experiências administrativas bem-sucedidas. O PT foi para a televisão dizendo o que estava fazendo. Saímos da fase do “eu acho” e entramos na fase do “eu faço”. A segunda coisa importante foi a questão ética. O PT está incólume nessa questão de envolvimento com corrupção e foi o partido que cassou corruptos nesses últimos anos. Embu, Guarulhos, São Paulo são apenas alguns exemplos. E, em terceiro lugar, acho que está a coerência do PT na oposição à política do governo federal. O crescimento do PT não se dá apenas pelas cidades que nós ganhamos. É um erro e é diminuir nosso crescimento. Se dá porque, em muitas cidades brasileiras, saímos de um patamar de 8, 10 por cento para 25, 30, 35 por cento dos votos. FERNANDO DO VALLE - Como você vê essas pessoas que falam que o PT “abrandou o discurso”?
Eu não posso hoje fazer um discurso como eu fazia em 80 na porta da Volkswagen. Iam me chamar no mínimo de louco. O PT fez o discurso adequado em função da conjuntura adequada. Não fez nem mais nem menos. De vez em quando, você pode falar coisas duras de forma delicada e ser mais convincente do que falar as mesmas coisas gritando ou berrando. O PT evoluiu para isso. E por quê? Porque tem a proposta. Quando a gente falava na campanha do orçamento participativo, do Banco do Povo, da BolsaEscola e da Renda Mínima, eram coisas que as pessoas já tinham visto em algum lugar. E isso garantiu uma base de credibilidade. Eu digo sempre o seguinte: o PT está numa fase da vida, consolidada nessa eleição, que é como a do adolescente. A gente, que é pai, está sempre vendo o filho como criança e muitas vezes a gente erra porque não dá a credibilidade que ele quer que a gente dê.
O que eu acho é que ninguém pode querer que a Marta Suplicy faça um discurso como o meu. Não fica bem para ela e não faz parte do estilo dela. Ela vai fazer o discurso dela. E também eu não poderia ser candidato fazendo um discurso light. Como um outro companheiro, por exemplo, o Vanhoni, de Curitiba, faz o discurso no estilo dele. Eu não posso hoje fazer um discurso no estilo dele. Eu não posso hoje fazer um discurso como eu fazia em 80 na porta da Volkswagen. Iam me chamar no mínimo de louco. O PT fez o discurso adequado em função da conjuntura adequada. Não fez nem mais nem menos. De vez em quando, você pode falar coisas duras de forma delicada e ser mais convincente do que falar as mesmas coisas gritando ou berrando. O PT evoluiu para isso. E por quê? Porque tem a proposta. Quando a gente falava na campanha do orçamento participativo, do Banco do Povo, da Bolsa-Escola e da Renda Mínima, eram coisas que as pessoas já tinham visto em algum lugar. E isso garantiu uma base de credibilidade. Eu digo sempre o seguinte: o PT está numa fase da vida, consolidada nessa eleição, que é como a do adolescente. A gente, que é pai, está sempre vendo o filho como criança e muitas vezes a gente erra porque não dá a credibilidade que ele quer que a gente dê. Ou seja, às vezes ele está no ponto para você empurrar e falar: “Vai”. E você fica: “Não, não vai” (risos). Então, acho que a sociedade viu um dia no PT o partido mais honesto, o partido mais comprometido com os trabalhadores, o partido mais comprometido com a reforma agrária, mas ela tinha dúvida se o PT estava preparado. E, nessa campanha, ela disse: “Está”. E agora entregou para nós uma parcela muito grande de poder. Vamos ver se devolvemos para a sociedade a credibilidade que depositou em nosotros. AZIZ AB’SABER - Não foi um abrandamento do discurso, foi um aperfeiçoamento político e cultural do PT.
\103_
_104/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#06_ Mano Brown _
Janeiro de 1998
Mano Brown é um fenômeno Muita coisa mudou e nada mudou para Mano Brown nas últimas décadas. “Contrariando a estatística”, expressão que o rapper usa para indicar aqueles que conseguem desviar da curva de corte imposta pela violência, miséria e falta de oportunidades, os Racionais MC’s passam da marca dos 25 anos tirando “a sujeira escondida debaixo do tapete”. Pela turnê comemorativa, levaram prêmio de melhor show em 2014. Cores e Valores, o primeiro de inéditas em 12 anos, foi o melhor álbum do ano pela Rolling Stone Brasil. O reconhecimento, no entanto, não evitou episódios como o de abril do ano seguinte, quando o rapper seria levado algemado à delegacia após abordagem policial, sob protestos do então secretário de Direitos Humanos de São Paulo Eduardo Suplicy. Também não mudou a relação com a grande mídia. Suas entrevistas, geralmente, estão em espaços “alternativos”, como a de Caros Amigos em janeiro de 1998. Mano, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay agora falam diretamente com os fãs, em “coletivas” on-line. E Mano Brown continua dando seu recado:“Somos reféns das palavras, mas não posso ser refém de nada, nem do rap”. Como ao receber o prêmio Santos Dias de Direitos Humanos na Assembleia Paulista, em 2012, quando em seu discurso pediu o impeachment e acusou o governador Geraldo Alckmin (PSDB) de “usar mortes como instrumento de domínio”. Ou em 2013, na resposta aos ataques de Lobão, que chamou os Racionais de “braço armado do PT”.
Pedro Paulo Soares Pereira nasceu em São Paulo em 22 de abril de 1970. Cresceu no Capão Redondo, periferia da capital. No final dos anos 80, formou o Racionais MC’s, com raps sobre o cotidiano das periferias, racismo e violência policial. Em 2008, foi o 28º nome na Lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira da Rolling Stone. No ano seguinte, os Racionais eram escolhidos os artistas da década pela Central Única das Favelas.O videoclipe Mil Faces de um Homem Leal (Marighella) foi o melhor de 2012. ENTREVISTADOR Sérgio Kalili
Outro recado veio no dia 13 de março de 2016, também pelas rede sociais: “Todo protesto é válido, mas golpe não!”.
\105_
#06_ Mano Brown
Um homem de rosto resignado e corpo musculoso caminha à vontade seguido por uma multidão. Cumprimentos com muita ginga, abraços apertados, força, muitos pedidos. O bafo do lugar é quase sempre quente e úmido. Às vezes, sobe um cheiro de fossa. A tensão fica mantida no segundo plano por um falso relaxamento. O contato pessoal vem melado de suor. Quem movimenta essa imensa turba sincronizada, à minha frente, recebe tratamento de rei, carrega procuração para ser a voz de todos à sua volta. No dia 3 de dezembro de 1997, eu entrei com uma equipe de cinema no Pavilhão 9 da Casa de Detenção Flamínio Fávero (Carandiru), cenário, cinco anos atrás, de uma chacina sem precedentes no mundo. O que testemunhei foi o termômetro da popularidade do rapper Mano Brown, dos Racionais MC’s, principal letrista e líder do grupo de rap que está se metendo na história da música popular brasileira. O sucesso vem aumentando ano a ano. Em 1997, Mano Brown e os outros três racionais (Edi Rock, Ice Blue e o disque-jóquei Kl Jay) viajaram ao Rio de Janeiro para escalar os morros do Borel, Dona Marta, Formiga... Cercados por homens do lugar, armados com metralhadoras, granadas ao corpo, por uma multidão de moradores, os paulistas foram recebidos e aclamados como a mais nobre das realezas. — Brown, vocês foram adorados no Rio de Janeiro? — Achei da hora, mano. A atitude vai falando na frente do seu sotaque. Os caras também têm rebeldia. Mais uma turnê recente dos Racionais, antes de voltarmos ao palco do Carandiru: shows em salões de baile da periferia de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília... Gente vestida e falando como eles. Jovens chorando e pedindo para tocar, chegar perto, um autógrafo, uma ajuda... Como diz o título da música no último CD do grupo, Sobrevivendo no Inferno – Periferia é Periferia (em Qualquer Lugar).
_106/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A presença de Brown na penitenciária chama a atenção pelo tamanho de sua popularidade e por um projeto que vem alimentando nos últimos dois anos. Na próxima cena, ele vai representar um papel. O rapper se prepara para encarnar a figura de um detento. Seu primeiro clipe em cinema será um pequeno documentário sobre o “Massacre do Carandiru”. O roteiro foi escrito por ele e pelo diretor de cinema Maurício Eça. Pequeno para documentário, enorme para videoclipe. “Eu acredito que seja o maior já feito em película no país”, diz o cineasta. São sete minutos e meio de música. Um trabalho praticamente inédito, já que pouco se fez no cinema sobre o massacre. E tantos foram os longa-metragens americanos sobre a rebelião de cinco dias em Attica, em 1971, na qual morreram 10 reféns e 29 presos. Até então considerado o evento de maior violência na história prisional. Agora, atrás dos 111 do Carandiru. Enquanto a equipe de cinema se prepara para rodar, vamos conhecer um pouco da carreira do ator principal. Em dez anos, Brown conquistou de forma natural a confiança de boa parte da população que escolheu como público: desempregados, traficantes, ladrões, pobres, pobres e pobres ou, se preferir, miseráveis, indigentes e marginalizados. Sem fazer questão de ter disco nas prateleiras das grandes lojas; recusando convites para tocar e dar entrevistas à Globo, ao SBT, à Bandeirantes...; fechando os olhos para contratos mais rendosos de grandes gravadoras (Sony, EMI, Odeon, Eldorado...); fazendo tudo contra o “sucesso”, com músicas tamanho família, acima de sete minutos de duração, recheadas de palavrão e muita gíria; puxando o “r” paulistano e jogando a realidade feia e violenta da periferia no ventilador – Mano Brown é um fenômeno. O sucesso boca a boca forçou o país a escutar Racionais. O LP Raio X Brasil, lançado por uma minúscula gravadora no final de 1993, ven-
deu 250 mil cópias – tanto quanto o primeiro CD de Gabriel, o Pensador, com o rap Lôraburra, na época prioridade da multinacional Sony, que colocou, em 1994, todo o seu poder de mídia à disposição do artista. E o dobro de Fernanda Abreu, que atingiu com o CD Da Lata, lançado pela gigante EMI, em 1996, 120 mil cópias. “Muitos artistas grandes da MPB não conseguem vender 100 mil cópias”, garante Che Leal, ex-integrante do grupo de black music Skowa e a Máfia, hoje dividindo o palco com a própria Fernanda Abreu. Em setembro do ano passado, Mano Brown alcançou em semanas o que muita gente não consegue em anos. Desde 1993 sem lançar um disco, os Racionais aparecem com Sobrevivendo no Inferno. Mais um choque, mais tensão e atenção. Filas e filas, autógrafos, fotografias, poucas entrevistas... curtas e grossas, de má vontade. Para as grandes TVs, nada. O lançamento foi na Galeria Barão, na rua 24 de Maio, centro de São Paulo, ponto de encontro de heavys e admiradores da música negra. Em quatro semanas, o disco vende 200 mil cópias. Willian Carlos Santiago, diretor da pequena distribuidora Zambia, criada especialmente para distribuir o novo CD, acreditava em dezembro na marca de 300 mil unidades até abril deste ano. Ele pensa em entregar os discos de ouro e platina a que o grupo já tem direito, mas não sabe se vão aceitar. “Eles têm o jeito deles de fazer as coisas.” O novo disco representa uma nova etapa na evolução do grupo. É o primeiro que sai com o selo Cosa Nostra, de propriedade dos quatro. Sem padrão. Aumentam o volume, o sotaque, os palavrões para mostrar a sujeira escondida debaixo do tapete. — Como é que é, Brown? — Eu ainda não conseguia falar o que eu queria. Pânico na Zona Sul (primeira música gravada pelo grupo, em 1990), por exemplo, era meio confusa. Falava dos justiceiros, de cara que morria.
“... Precisamos de um líder de crédito popular/ Como Malcolm X em outros tempos foi na América/ Que seja negro até os ossos/ Um dos nossos/ E reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços/ Nossos irmãos estão desnorteados/ Entre o prazer e o dinheiro/ Desorientados/...” (Voz Ativa – letra de Brown)
— Cabo Bruno? — É, depois dele teve mais. Mas comecei a viajar com os Racionais e vi que o problema é parecido em outros lugares. A coisa é muito maior. Hoje tem música que eu nem canto porque tenho raiva da letra. Voz Ativa (segundo LP, de 1992) mesmo, tenho raiva da música. — Por quê? — Tinha medo de falar gíria, medo de ser mal interpretado, da música ser vulgar. Se você ouvir, vai ver que as palavras... Parece que eu sou um professor universitário... Tudo quase semianalfabeto querendo falar pros cara da área, e ficava parecendo que não éramos nós. Aí eu falei: “Não, para, mano!”. De modo geral, as letras perdem a pretensão de ensinar o certo e o errado. Apenas retratam em primeira pessoa casos violentos da periferia. O público tira a moral da história ao ouvir o desdobramento das narrativas.
\107_
#06_ Mano Brown
— Conforme o tempo vai passando, você se aproxima das pessoas para as quais você fala – explica Brown. Duas das letras já estão virando hino dos bailes da periferia e na prisão: Fórmula Mágica da Paz e Diário de um Detento. A primeira trata da busca pela sobrevivência na periferia, a outra fala da prisão e do massacre do Carandiru – é a música do videoclipe que está sendo filmado para exibição na MTV. São temas que num primeiro momento podem não parecer ligados, mas estão, e muito. Com a palavra, Brown, o principal letrista dos Racionais: — Nós fomos em mais de cinquenta pessoas jogar bola lá (no Carandiru) com um camarada meu da Vila Joaniza (Zona Sul) que tava preso. E aí encontrei um monte de cara que não via mais na rua que eu nunca imaginei... Vários cresceram comigo. Este trecho de Fórmula Mágica da Paz mostra a linha tênue que separa o jovem da periferia, da liberdade, da prisão e da morte: “Essa porra é um campo minado/ Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui/ Mas a minha área é tudo que eu tenho/ A minha vida é aqui/ Não vou trair quem eu fui, quem eu sou/ Eu tento adivinhar o que você mais precisa/ Um advogado pra tirar seu mano/ No dia da visita você diz:/ Eu vou mandar cigarro pros maluco lá do X/.../ Aqui quem fala é mais um sobrevivente/.../ Olhe ao seu redor e me diga/ O que melhorou? Da função, quem sobrou?/ Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá/...” (Letra: Brown.) Encontrei-me com Mano Brown três vezes em dezembro. Na garagem da casa dele, onde fiz a entrevista, no estúdio de cinema
_108/
18 entrevistas _ revista caros amigos
e no Carandiru, uma semana depois de ele perder mais um amigo de bairro, assassinado. Esperei quatro longas semanas para conhecê-lo. Tem gente que nunca consegue. Ele deixa claro seu desprezo pela mídia. Nunca precisou dela, não vai ser agora... Escolhe a dedo os entrevistadores. Fez a exigência de conhecer a revista antes de marcar um encontro. Mandei a edição especial sobre vida e morte de Che Guevara de outubro. Mandei também minha matéria sobre “Aids no Campo”, de novembro. Chegam seus amigos: — Tô dando entrevista para uma revista comunista. Muitos dos nomes citados nas dedicatórias das capas e músicas dos Racionais estão agora em volta, ouvindo a entrevista. Negro Abraão, Fernando Fuinha, Jhony MC... Volta o olhar para mim. — Saiu notícia da morte do seu amigo nos jornais? – pergunto. — A imprensa não está a fim de notificar morte de um cara de bairro que nem esse aqui, que não é filho de empresário, não é jogador de futebol, cantor famoso; um cara comum, que nem a gente fala: “É um cara comum, desempregado, que teve problemas na Justiça, mas já pagou, como milhares”. A referência é para a quinta música do novo CD: Rapaz Comum. — Qual era o nome dele? — Geovane. Era o símbolo da Cohab no futebol. Quando olho para o campo vem a lembrança. A gente não tem jogado mais. Ele tinha a minha idade. Estava saindo fora da estatística que nem eu. Demorou, mas aconteceu... Aí, perguntam: “Era envolvido com o quê?” Como se isso fosse o bastante pro cara morrer. Não era envolvido com nada.
Não há exagero no tamanho da violência retratada nas músicas. Em 1996, o governo mediu e confirmou a mortandade: fez o Mapa de Risco da Violência na Cidade de São Paulo. O trabalho, coordenado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, começa por definir a palavra “risco”: “Significa a chance que um indivíduo ou uma população tem de sofrer um dano futuro no seu equilíbrio vital. E, como ‘não há nenhuma evidência de que a natureza jogue dados com suas criaturas’, esses danos estarão então intimamente conectados com as condições de vida sob as quais vivem os indivíduos e as populações”.
Geovane Lima Caetano, 27 anos, saiu de casa à noite, na região de Capão Redondo. Colocou gasolina no carro e não voltou mais. Apareceu morto, ninguém sabe por quem, com um tiro no coração. Deve virar notícia no futuro disco dos Racionais como aconteceu com outro amigo, “Mano Rogério”, citado no hit Fim de Semana no Parque, do LP Raio X Brasil, de 1993. “.../Como se fosse ontem e ainda me lembro/ Sete horas, sábado, quatro de dezembro/ Uma bala, uma moto com dois imbecis/ Mataram nosso mano que fazia o morro mais feliz/ E indiretamente ainda faz.../ Mano Rogério, esteja em paz/ Vigiando lá de cima a molecada do Parque Regina/...” Não há exagero no tamanho da violência retratada nas músicas. Em 1996, o governo mediu e confirmou a mortandade: fez o Mapa de Risco da Violência na Cidade de São Paulo. O trabalho, coordenado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, começa por definir a palavra “risco”: “Significa a chance que um indivíduo ou uma população tem de sofrer um dano futuro no seu equilíbrio vital. E, como ‘não há nenhuma evidência de que a natureza jogue dados com suas criaturas’, esses danos estarão então intimamente conectados com as condições de vida sob as quais vivem os indivíduos e as populações”. A taxa de mortalidade por homicídio no Brasil é quase duas vezes maior do que a americana, oito vezes maior do que a canadense. Os bairros paulistanos aparecem entre os mais violentos do mundo. Os da Zona Sul frequentemente atingem as primeiras colocações do ranking. Em 1995, morria-se mais no Jardim Ângela do que em Cali, na Colômbia. No Mapa de Risco, também foram estabelecidas notas para o nível socioeconômico de cada um dos locais, e as regiões violentas, como Jardim Ângela, Grajaú,
\109_
#06_ Mano Brown
Capão Redondo, Jardim São Luís, estavam, e continuam, reprovadas. Em 1996, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa contou 4.888 homicídios de autoria desconhecida nos bairros paulistanos: 13 pessoas por dia perdendo a vida, de forma violenta, na capital de São Paulo. Quem liderava a lista era o Capão Redondo, com 233 homicídios. Em segundo, aparecia o Parque Santo Antônio, com 186. Mano Brown mora na rua Jeribás, bairro Jardim Alvorada, área do 47º Distrito Policial, região do Capão Redondo, Zona Sul. Ice Blue, até seis meses atrás, vivia com a mãe, na rua Luís Madrazo, Jardim Vaz de Lima, área do 92º DP, região do Parque Santo Antônio, também Zona Sul. Agora mora próximo, na Estrada de Itapecerica. Esse mapa todo é a razão óbvia para o título do novo CD Sobrevivendo no Inferno. “Vou mandar um salve pra comunidade do outro lado dos muro. As grade nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Parque Santo Antônio... e para todos os aliados espalhados pelas favelas do Brasil... Todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto e pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros porco: aí tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mindingos e leprosos, pregando a igualdade... Um homem chamado Jesus.” (Uma das músicas de Sobrevivendo no Inferno, autores Brown e Blue.) O censo penitenciário de 1996 dá mais uma dica de por que Brown encontra tanta gente conhecida, do seu bairro pobre, toda vez que visita o Carandiru. Sessenta por cento dos presos não têm o primeiro grau completo, 44 por cento não têm profissão definida, 42 por cento ficam desempregados antes de irem para a prisão. Sessenta por cento dos detentos do país nasceram em São Paulo.
_110/
18 entrevistas _ revista caros amigos
- Eu vejo a injustiça. Falo como vejo as coisas. A polícia é preconceituosa. Preto não pode ter as coisas, tem que ficar toda hora provando de onde veio, de onde comprou, mostrar notas fiscais... Caras da nossa cor, falando gíria em cima de um som discriminado como o rap, irritam porque eles não esperavam.
Vou aproveitar o bolo de prisioneiros que se formou em torno de Mano Brown, nos corredores do Pavilhão 9, para colher alguns depoimentos dessa gente que só consegue espaço em programa policial de rádio ou TV. — Qual sua opinião sobre os Racionais? — É só rap nervoso. Já vi vários shows perto da minha casa. – Fabiano Santos Borbeque, 18 anos, preso por tráfico. Pergunto a outro sobre Mano Brown. — Ele canta a realidade. – Adilson de Assis Lima, 20 anos, tráfico. Estendo o gravador para mais um. — Eles vieram da pobreza de onde nós viemos. – Silvio César Silvério, 27 anos, já foi disque-jóquei, conhece as músicas dos Racionais na ponta da língua, está preso há nove anos. Ulisses Adriano, 21 anos, condenado por assalto, membro do conjunto de pagode do Pavilhão 9: — Brown é um cara humilde e sabe como é o sofrimento desse lado de cá.
Em outro pavilhão, o preso Elias tinha arrumado um jeito de transportar Brown da capa do disco para fazer-lhe companhia na cela. Pintou-o com perfeição na parede. São desenhos coloridos e o rapper está entre várias figuras famosas, como Mike Tyson. Grafiteiro, Elias Eduardo da Silva morava na Zona Sul, hoje vive na cadeia por duplo homicídio. — Admiro Mano Brown como exemplo de pessoa que está vencendo. Apesar de tá no meio da marginalidade, ele escolheu o lado bom, não o lado ruim, como eu. Amados por presos, pretos e pobres.... Mas parte da polícia paulistana tem razões de sobra para não gostar tanto assim dos Racionais. 26 de novembro de 1994, 15 mil pessoas se apertam no Vale do Anhangabaú. Cantam e dançam rap. É o festival Rap no Vale. Em minutos, a letra de uma música transforma o lugar. Racionais no palco. Da boca de Brown saem os versos de Homem na Estrada, hit de Raio X Brasil. Após cantar a última frase, o grupo é detido por PMs que fazem o policiamento do show. Chuva de pedras no palco, tiros... Gente ferida. A música conta a história de um homem morto pela polícia na calada da noite. História que lembra o livro Rota 66, do jornalista Caco Barcellos, com linguagem mais agressiva. “.../Te chamarão pra sempre de ex-presidiário/ Não confio na polícia, raça do caralho/... / Vão invadindo o seu barraco:/ ‘É a polícia!’/ Vieram ora arregaçar, cheios de ódio e malícia/ Filhos da puta, comedores de carniça/ ...” Foram acusados de incitação ao crime. Na época, o diretor de comunicação da PM, coronel Hermes Bittencourt Cruz, declarou à imprensa que a polícia efetuara as prisões por ter sido “ofendida”: “Enquanto esses grupos nos ofendiam no centro, centenas de PMs protegiam a família deles na periferia. Como eles têm direito
à liberdade de expressão, nós temos o direito de nos defender”. Naquele ano, diversos grupos de rap tiveram problemas com a Polícia Militar. Um manifesto foi redigido pelos músicos e organizações de combate ao racismo e enviado à imprensa. Houve até um encontro entre os envolvidos na sede paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. — Brown, por que vocês são odiados pela polícia e adorados pelos marginalizados? — Eu vejo a injustiça. Falo como vejo as coisas. A polícia é preconceituosa. Preto não pode ter as coisas, tem que ficar toda hora provando de onde veio, de onde comprou, mostrar notas fiscais... Caras da nossa cor, falando gíria em cima de um som discriminado como o rap, irritam porque eles não esperavam: “Como é que nós deixamos isso acontecer, ó o tamanho que os caras tão!”. Isso aí vai dar liberdade pra preso falar, favelado... Então para os caras isso é uma conspiração dos pobres, dos pretos, dos favelados. São quase 11 horas da manhã no Carandiru. O sol quente abafa ainda mais o ar. “Ação!”, ordena o diretor. A equipe filma a capoeira dos presos no centro do pátio espremido por muralhas e pelo prédio do pavilhão; filma o culto dos evangélicos vestidos de terno e com cabelos engomados, acompanhado por uma banda com guitarra e bateria; a fachada de parte do quinto andar, onde ficam os presos de castigo, trancados em celas sem camas; um canto também do lado de fora, onde cinco detentos ganham músculos levantando bolas de concreto presas a barras de ferro... Enquanto a equipe de cinema tenta fazer o máximo de cenas antes do fim do dia, Brown aproveita e entra nas prisões, visita amigos, escuta mais pedidos, dá autógrafos. Percorre o Pavilhão 9. É o maior do Carandiru: 1,7 mil presos lotam cinco andares, espremendo-se em pequenas celas com cinco, seis ou mais condenados. Na época do massacre, eram 2,8 mil. Hoje,
\111_
#06_ Mano Brown
tem mais de 6 mil presos, em sete pavilhões, o que contraria as recomendações internacionais, que limitam qualquer penitenciária ao máximo de 500 condenados. — Por que vocês resolveram fazer um clipe? — É um sonho, um sonho de moleque. Os americanos fazem, a gente vê pela televisão, acha da hora. A gente foi conhecer os pretos americanos pelos clipes. Não tem programa na televisão sobre os caras do gueto, ex-cadeeiro, ex-traficante... Não é Michael Jackson, esses negócio aí. — E se passar no Fantástico? — Como é que a gente vai impedir de tocar a nossa música? Se quiser passar, passa, mas a gente não vai lá. — O que significa ir a programas como Faustão e Gugu? — O começo da derrota dos rebeldes. Estamos começando a ganhar uma pequena batalha de uma grande guerra. Tudo está no controle dos cara: televisão, a música... O Racionais não pode trair. Muita gente conta com a nossa rebeldia. O dia acaba no Carandiru. Seis horas da tarde, começa a contagem dos presos. Às 7, todos estarão trancados nas celas. Vamos embora sem filmar as cenas do rapper cantando, vestido de detento. Fica para sexta-feira, 12 de dezembro. De volta aos bairros violentos da Zona Sul, conhecer a família de Brown. O líder dos Racionais vive com a mulher, Eliane Aparecida Dias (prima de seu parceiro Blue), o filho de dois anos e a mãe, Ana Soares Pereira, em um pequeno apartamento de conjunto habitacional, construído pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, Cohab. Para quem chega do hall, o primeiro cômodo à vista é a sala, com móveis demais para o tamanho e iluminação falha. Na parede, um quadro de Bob Marley, “um ídolo que morou na favela, mesmo
_112/
18 entrevistas _ revista caros amigos
depois do sucesso, e nasceu de um pai branco com uma negra”, como ele, Brown; outro, colorido, da Unidade Africana, a mão negra, punho fechado apertando um fio de arame farpado. A criança dança ao som do disco do pai. Recebeu o nome de dois “guerreiros”, um africano e outro brasileiro. Eliane escolheu Kaire, e Brown, Jorge, em homenagem a Jorge Benjor. “Coisa de fã mesmo." Brown tatuou o nome do filho no braço esquerdo, “Kaire Jorge”. No direito, a mesma cruz que estampou na capa do mais recente CD. Da pequena sala, sai um curto corredor. Quem está de frente enxerga a cozinha do lado esquerdo. À direita, primeiro o quarto do casal e da criança; depois, o quarto de dona Ana; mais ao fundo, o banheiro. A mãe de Brown guarda em cima do armário do quarto um dos primeiros troféus ganhos em concursos de rap pelo filho. Sentamos na sala. — Dona Ana, seu filho pergunta do pai? — Não, nem procura. Meu marido me deixou quando eu estava de um mês. Pequeno, meu filho já falava: “Mãe, quando eu tiver grande, vou dar uma casa para a senhora”. Eu trabalhava em casa de família e ganhava um salário miserável. Mano Brown nasceu Pedro Paulo Soares Pereira em 22 de abril de 1970. Ganhou o apelido de tanto ouvir James Brown. Foi criado praticamente junto com Paulo Eduardo Salvador, a quem deu o apelido de Ice Blue, por causa de uma música de Jorge Benjor que fala de um tal de “Nego Blue”. As mães dos dois costumavam sair juntas para os bailes. Blue foi o primeiro parceiro na música. Os dois cresceram no mesmo cenário. Quem olha para o horizonte, na região do Parque Santo Antônio e do Capão Redondo, fica com a impressão de ter entrado numa cidade que sofreu um pequeno bombardeio. As casas parecem sempre inacabadas ou em fase de construção. De tão coladas, dão a impressão de estarem umas sobre as outras. Isso
quando não estão de verdade. As cores puxam para o cinza; falta verde. No começo da carreira, Brown e Blue enfrentaram muita dificuldade. As letras assustavam. Até 1988, o rap tocado nos bailes falava mais de amor, ou até dos próprios bailes, do que de violência. Precisou conquistar espaço à força no Brasil e no mundo. “Tinha uma ideia de intelectualidade de que rap não era música e de que não era um movimento importante”, lembra o DJ e dançarino Eugênio Lima, diretor da companhia de street dance Unidade Móvel. “O pessoal estranhava e ria. E até a comunidade tinha preconceito com rap em português”, diz Nazi, DJ, produtor de alguns dos primeiros rappers nacionais e vocalista da banda de rock Ira. As primeiras experiências dessa nova linguagem chegaram da Jamaica, ainda nos anos 70, com o DJ Lee Scratch Perry. Ele fazia alguns testes, recitando letras em cima de batidas eletrônicas. Mas a novidade só passou a ser reconhecida como corrente musical alguns anos depois, em Nova York, com Kurtis Blow, Grand Master Flash Furious e Sugar Hill Gang. É uma forma de construção de música em que a melodia é dispensável: rhytm and poetry, ritmo e poesia, o rap. Que se transforma em braço sonoro dos negros americanos ao ser integrado ao movimento hip hop (cultura dos guetos), que incluía também expressões visuais, com grafite, e a dança, com o break. Todos eram apresentados durante espetáculos por um MC, o mestre de cerimônia. Mais tarde, o rapper passa a assumir também esse papel. O primeiro rap de destaque dentro do hip hop brasileiro surge nos primeiros anos da década de 80, Ruth Carolina, do rapper Pepeu. Os paulistanos ainda cantavam nos bailes de periferia quando aparecem Mano Brown e Ice Blue. Ninguém queria gravar a dupla, o quente eram coisas como Ruth Carolina. “.../ Ruth, Carolina, Beth, Josefina/Cabei de lhe dar quatro nomes de meninas/ muito bem
No começo da carreira, Brown e Blue enfrentaram muita dificuldade. As letras assustavam. Até 1988, o rap tocado nos bailes falava mais de amor, ou até dos próprios bailes, do que de violência. Precisou conquistar espaço à força no Brasil e no mundo. até que você não foi mal/ Esse rap em cogito tá ficando legal/ Eh, dona ETA/ ...” (autor: Pepeu.) — Brown, você ganharam concursos de rap nos bailes? — Ganhamos. Apareceu proposta de gravar, mas os caras tinham medo da letra. Aí, pediram: “Tem outra?”. Eu começava a cantar: “Essa também é foda. Vai espantar as pessoas, estragar o baile". — Mudou a letra? — Ia ter que maquiar as músicas. Eu tenho ambição, mas não aquela de gravar de qualquer maneira, de comprar um dinheiro. Enquanto os brasileiros curtiam Pepeu, começava a ganhar destaque nos Estados Unidos um grupo que iria influenciar os Racionais de maneira decisiva, o Public Enemy. A banda faz um rap político-panfletário, é aquela que participa da trilha sonora de Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, com Fight the Power (Combata o Poder). Na letra, afirmam que Elvis era um grande racista. Em outra, sentenciam: “Don’t believe the hype” (Não acredite na mídia). O nome da dupla Brown e Blue, de 1988 até 1990, era B.B. Boys. Cantavam a primeira letra de Brown, Terror na Vizinhança. Sem DJ particular, tinham de adaptar a letra a qualquer base. “Em cima de qualquer som, a gente saía falando.” O rap social continuava sem espaço. As portas começariam a dar sinal de que poderiam se abrir com Altair Gonçalves, o Thaíde. Com le-
\113_
#06_ Mano Brown
tras politizadas, mas menos violentas, o rapper acabou conquistando espaço na mídia. Mais gente se acostuma com a nova música. O sucesso de Thaíde carrega para o alto outros artistas marginalizados. — Brown, Thaíde te influenciou? — O primeiro rapper que eu vi na televisão que me incentivou a cantar foi Thaíde. Eu nem sonhava em cantar. Aí, eu vi: porra, brasileiro fazendo rap. Aí fui ver o Thaíde de verdade na São Bento, quando vi, não acreditei. Apesar de fazer rap desde 1986, Thaíde só gravou pela primeira vez em 1988. Nesse ano, estoura nas rádios e televisões com a música Corpo Fechado, faixa do primeiro disco de rap nacional, uma coletânea da Eldorado batizada de Cultura de Rua. Vende 60 mil cópias. Encontrei Thaíde no Soweto, uma casa de música negra no bairro de Pinheiros, São Paulo. Pedi: — Thaíde, canta um pouco pra gente? — “Me atire uma pedra/ que eu te atiro uma granada/ Se tocarem minha face/ sua vida está selada/ Portanto, meu amigo, pense bem o que fará/ Não sei se outra chance você terá/ Você não sabe de onde eu vim/ e não sabe para onde eu vou/ Mas para sua informação/ vou te falar quem eu sou/ Meu nome é Thaíde e não tenho RG/ não tenho CIC, perdi a profissional/ Nasci na favela de parto natural/ numa sexta-feira cinco que chovia para valer/ Os demônios me protegem e os deuses também/...” Dois anos depois que Thaíde estoura, Brown e Blue se unem com Edi Rock e Kl Jay para gravar, como Racionais, duas faixas, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, no LP Consciência Black, uma coletânea da pequena Zimbabwe. Mas não foi nada fácil. Quem apresentou a dupla da Zona Sul para os dois da Zona Norte continua com o grupo até hoje. Milton Sales, chamado de “tio do rap”, faz
_114/
18 entrevistas _ revista caros amigos
os contratos para os shows. A paulada dos Racionais de início assustou Willian Carlos Santiago, proprietário da Zimbabwe. DJ Cri, produtor das faixas na coletânea, lembra como se fosse hoje: “Nesse dia que o Milton levou a fita demo, a gente também levou ao escritório do Willian, em Santana, o tape deck e o cabo para ouvir. Não tinha como falar ‘escuto depois’. Ele achou pesadíssimo. Falou que ia ser difícil trabalhar aquilo." Mas Willian gravou. Colocou nas últimas faixas dos dois lados do LP, mas gravou. Ele explica por que resolveu arriscar: “Senti a obrigação, porque eles passavam nas letras coisas que eu vivi na minha infância”. Brown e Blue cresceram incomodados com dois lugares: o Carandiru e o Cemitério São Luís. Apesar de fazer parte do cenário do dia a dia de quem vive no parque Santo Antônio e no Capão Redondo, e algumas cenas foram filmadas no Capão Redondo (bairro de Brown), os dois não querem nenhuma imagem do cemitério no videoclipe. Quase todos os amigos que perderam, ao longo dos anos, estão enterrados lá. A caminho da antiga casa de Blue, passamos pelo São Luís. Na rua onde morava, conheço sua mãe, colega de baile da mãe de Brown, dona Benedita de Lourdes Dias. Me apresenta o único irmão, Éder Eduardo Dias Santos, de 21 anos, seis anos mais novo. — Ah, a galera do mal – sorri ao avistar quatro conhecidos. E, então, repete letra de música que ajudou a escrever: — Esses caras são os poucos que sobraram. Estão contrariando a estatística, que nem eu. Essa rua de periferia, estreita e feia, já assistiu a muito ensaio e encontro dos Racionais. Blue aponta para sua antiga casa em reforma. Acabo não entrando.
Diário de um Detento pega como base a letra de rap de um sobrevivente do massacre do Pavilhão 9 do Carandiru. Mano Brown o conheceu dois anos atrás. Estava na penitenciária para disputar uma partida entre presos e visitantes. “O cara chegou em mim e disse: ‘Mano, tô ligado que você não vai usar, mas escrevi um rap’. Li e respondi: ‘Não, mano, tá da hora’”. Vários detentos pediram então para Brown uma música contando o sofrimento da prisão e do massacre. Repetiam: “Você tem moral pra fazer isso”. Na época, Brown tinha também um primo na prisão. Durante meses, recebeu cartas do parente com notícias sobre o dia a dia dos detentos e histórias do massacre. Em cada carta, uma palavra, uma frase. “Meu primo não podia mandar tudo de uma vez porque a direção do Carandiru censurava.” O rap ficou pronto. Quem olha a contracapa lê o nome do coautor, o sobrevivente Jocenir, ao lado do de Mano Brown.
— A gente se isola. O Brown esconde até o carro, senão o pessoal chama para jogar bola. Cada um escreve e depois se junta para uma avaliação. O Edi traz as dele. Até chegar a hora da gravação, essa letra já mudou três, quatro vezes. Por isso a demora para lançar um disco. Na volta, Blue para para visitar seu filho enterrado no cemitério. Agora entendo por que querem essa cena fora do clipe. — Isso aqui é um grande lixão de gente! – dispara Éder, seu irmão, de carona com a gente. O lugar é realmente feio. Não sei como descrever. Vou apenas contar o que me disseram. Quando chove, fica fácil encontrar não só ossadas, como cabeça, braço, resto de gente brotando da terra descalvada. Vejo Blue angustiado. — O que aconteceu? — Os caras não sabem nem onde tá, mano (não encontra o filho). Falaram que pegam a pedra, lixam (não tem nem lápide, apenas tijolos de mármore) e vendem para outro... O Cemitério São Luís não existe. Eu não queria que ele estivesse aqui. Na sexta-feira, 12 de dezembro, filmaram o que faltava no Carandiru. A letra do massacre ecoou pelos pavilhões. Vestindo calça bege de detento, Brown cantou no campo de futebol vazio, no corredor, numa cela, atrás das grades... Imagens e fotos do massacre e de Hitler seriam acrescentadas depois na montagem. Mas a cena final desse pequeno documentário não se desenrolou na Casa de Detenção. Aconteceu em frente à casa de Brown, numa das beiras do campo de futebol sem grama que ele ajuda a recuperar.
... Crianças com armas de madeira brincam de polícia e ladrão.
\115_
_116/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#07_ Marcelo Freixo _
Maio de 2013
A escolha entre UPP ou tráfico é uma armadilha Deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro em 2014, homem que colocou o dedo na ferida das milícias e inspirou um dos personagens do filme Tropa de Elite 2 o deputado Diogo Fraga -, Marcelo Freixo foi ao segundo turno na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro e obteve 40,64% dos votos válidos. Uma das vozes dissonantes das UPPs, as “unidades pacificadoras” que desde 2008 ocupam comunidades cariocas, Freixo ampliou sua base com mais de 1,1 milhão de votos na segunda disputa pelo cargo, diante de um eleitorado que levou à Câmara Federal nomes como Jair Bolsonaro (PP). Da primeira vez, em 2012, ficou também em segundo lugar na disputa com Eduardo Paes (PMDB), reeleito. O combate à violação aos direitos humanos foi mais uma vez o foco de sua campanha. E, ampliado, em um conceito que incluiu o que ele chama de “cultura de direitos” sugeria um amplo planejamento da cidade para a integração efetiva de suas populações, com a criação de espaços de diálogo entre o governo e moradores. “Não se constrói cidadania com armas e intervenção militar”, disse. “Os direitos dos moradores das favelas não se resumem à redução das taxas de criminalidade e à vigilância policial. Eles precisam ter acesso aos mesmos serviços que a população do asfalto. Falta mediação social”, afirmou.
Marcelo Ribeiro Freixo nasceu em Niterói (RJ) em 12 de abril de 1967. Ainda estudante de história, começou a ensinar detentos com base no método Paulo Freire. Foi filiado ao PT de 1986 a 2005, quando entrou para o PSol. Foi o mais votado do partido em 2006, elegendo-se deputado estadual. Participou da CPI das Milícias. Ficou em segundo lugar na disputa à prefeitura carioca em 2012. Dois anos depois, se elegeu deputado estadual com mais de 350 mil votos. Em seu terceiro mandato na Alerj, preside a Comissão de Direitos Humanos. ENTREVISTADORES Frédi Vasconcelos Mariana Gomes
No último dia 16 de abril de 2016, toda a sua atenção estava voltada à votação em Brasília do prosseguimento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em seu Twitter, às 12h43, declarava sobre o “não” dos companheiros de partido: “Orgulho da bancada do PSol 50 na Câmara dos Deputados! Sem medo de defender a democracia”. E, na corrida eleitoral, combateu a opinião de seus adversários saindo em defesa de Dilma. “Tivemos um golpe. Temos uma democracia frágil”, disparou em um dos debates no primeiro turno.
\117_
#07_ Marcelo Freixo
Para quem está fora, a imagem que se passa é que o Rio de Janeiro foi “pacificado”. As UPPS dominaram tudo e a coisa está resolvida, qual é a situação real que temos hoje? Primeiro, temos de tomar cuidado porque, geralmente, pacificação está associada a intervenção militar, historicamente. Não necessariamente uma concepção de paz que o senso comum nos traz de imediato. Em termos efetivos, essa pacificação tem mais a ver com a ação militar que com a construção de qualquer processo mais pacífico. Isso não é novo, mas, como estamos dialogando com a opinião pública, essa opinião pública fala que está pacificado, que não tem mais problema de violência... Mas é uma intervenção militar. A UPP não é pensada enquanto um projeto de cidade, de segurança pública. Mas, antes de qualquer análise que se venha a fazer, quero deixar claro que não aceito a armadilha de pensar a UPP à luz do que era o tráfico. Isso não é honesto. O tráfico representa outra coisa, talvez a ausência de uma série de políticas. Não dá para você determinar se a UPP é válida ou não à luz do que tinha antes, porque antes não tinha. Esse é o jogo para a população. Ou é a UPP ou o tráfico? Exatamente. Quando dei a entrada na CPI das Milícias, isso é o que mais me questionavam. “Mas você vai ser responsável pelo retorno do tráfico nas áreas de milícias?” Eu passei por isso, concretamente, como se questionar a milícia fosse um instrumento de favorecimento ao tráfico. A ideia do mal menor. Que é típica, inclusive, de diversas autoridades públicas. Não estou querendo fazer essa comparação, mas o jogo de raciocínio é muito parecido. Em qualquer crítica à UPP, hoje, o governo se defende com um “ah, mas antes era o tráfico”. Isso não é honesto porque antes era o tráfico e a principal vítima era quem morava lá, onde o tiroteio e as
_118/
18 entrevistas _ revista caros amigos
mortes aconteciam. Não era no entorno. A ausência de crítica à UPP pode significar a morte da UPP. Que tipo de questionamento? Primeiro, eu quero dizer que defendo o policiamento comunitário, defendo a política de proximidade. Na época da chamada política de guerra ao tráfico, sempre citei o exemplo do morro do Cavalão, em Niterói, que na época era de responsabilidade do Grupamento de Policiamento de Áreas Especiais (Gpae), que fazia uma política de proximidade lá atrás, modelo que deveria ser testado em lugar da política de guerra. Falei isso na época da invasão do Complexo do Alemão, em 2007, quando a polícia entrou, matou 19 pessoas e saiu. À época, falei: “Olha, o Cavalão não tem nenhum homicídio há anos, com o Gpae”. Essa política de proximidade não nasce com a UPP, tivemos experiências anteriores. Mas por que as UPPs têm de ser questionadas? Porque é uma política de um projeto de cidade. Isso tem a ver com o que se pretende para o Rio, que é hoje um grande balcão de negócios, com interesses enormes de diversos setores empresariais, do capital financeiro... É uma cidade laboratório das grandes cidades mundiais. Enfim, é uma cidade que tem, inclusive, uma gestão empresarial que a gente nunca teve. Hoje, as empreiteiras, que são muito importantes em todo o projeto olímpico e da Copa do Mundo, têm a gestão da cidade. Não só as obras de modernização dos estádios. O Metrô do Rio tem como gestora a OAS, a Supervia é da Odebrecht, a barca é da CCR. Não é só um contrato para determinada obra. As empreiteiras são as verdadeiras gestoras da cidade. Há uma inversão, uma relação muito delicada entre o que é público e o privado. Essa linha muito tênue está absolutamente desequilibrada. Os interesses privados estão no local
o Rio é uma cidade laboratório das grandes cidades mundiais. é uma cidade que tem, inclusive, uma gestão empresarial que a gente nunca teve. Hoje, as empreiteiras, que são muito importantes em todo o projeto olímpico e da Copa do Mundo, têm a gestão da cidade. Não só as obras de modernização dos estádios. O Metrô do Rio tem como gestora a OAS, a Supervia é da Odebrecht, a barca é da CCR. Não é só um contrato para determinada obra. As empreiteiras são as verdadeiras gestoras da cidade. Há uma inversão, uma relação muito delicada entre o que é público e o privado. Essa linha muito tênue está absolutamente desequilibrada. Os interesses privados estão no local em que deveria estar o interesse público.
em que deveria estar o interesse público. São os gestores da cidade e, quando falo de cidade, tem a ver também com o governo do Estado, porque todas as UPPs estão na cidade do Rio de Janeiro e a polícia é estadual. E o que tem a ver esse relacionamento econômico com a segurança? Se o Rio vai ter um grande projeto de segurança, a primeira coisa que se faz é um diagnóstico. Trabalhei como pesquisador na área por muitos anos, e não precisa ser um grande pesquisador para dizer o seguinte. O primeiro lugar que tem para receber polícia de aproximação são as áreas mais violentas. Onde estão os índices mais violentos da cidade? Não são os lugares que receberam as UPPs. A área metropolitana do Rio de Janeiro tem índices elevadíssimos. O que explica a Baixada Fluminense não ter nenhuma UPP e Copacabana ter quatro? Não é projeto de segurança pública. Não estou com isso dizendo que a UPP em Copacabana seja ruim. Mas o mapa das UPPS é muito revelador do significado desse projeto. E com as UPPs aqui houve deslocamento do tráfico para a Baixada? Para a Baixada e para toda a área metropolitana, Niterói, São Gonçalo... Eles insistem em dizer que não, mas agora já começam a admitir o que era óbvio desde o início. O mapa das UPPs é o corredor hoteleiro da Zona Sul. E essas UPPs são acompanhadas de especulação imobiliária muito grande e da chamada remoção branca, o que está acontecendo, principalmente, no Vidigal. Você tem o entorno do Maracanã, o entorno do Sambódromo, a Zona Portuária. Por que são esses os lugares de UPP? Não é o debate da segurança. Isso está diretamente associado a um projeto de cidade que passa pelos grandes empreendimentos, pelos grandes eventos. Fica claro que as favelas estão recebendo a ocupação não por causa de sua situação, mas por causa de sua localização. Essa é a questão central.
\119_
#07_ Marcelo Freixo
Com exceção do Complexo do Alemão, né? O Alemão é um pouco diferente, foge da curva. Não havia projeto para UPP lá naquele momento. Recebeu a UPP depois do episódio da queima do ônibus. Saiu do controle, tanto que retardou a UPP em outros lugares. A Maré, por exemplo, já era para estar com a UPP há muito tempo... Porque aí você tem um problema de produção de policiais. Não existem policiais em número suficiente. Essas favelas que estão recebendo as UPPs não são a prioridade, mas sim os lugares em que estão. Por que isso é importante? Porque é aí que nasce o grande debate que se faz hoje nesses lugares. Se você entrar nas áreas de UPP, tem aumentado muito o número de conflitos. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos (da Assembleia Legislativa do Rio, Alerj) e aumentou muito o número de denúncias de violação dos direitos humanos nas áreas de UPP. São diversos casos, inclusive envolvendo mortes, com a polícia, casos de violação, inclusive com homicídio. Estou falando do rapaz que estava comprando cachorro quente e foi morto por policial. No Alemão, rapaz com uma criança no colo recebeu um tiro. Outro, na Rocinha. O que gerou levantes civis contra a UPP, mostrando que nem tudo está pacificado nas relações entre Estado e sociedade, que essa relação está sendo feita exclusivamente pela polícia. Isso o próprio Beltrame (José Mariano, secretário de Segurança do Rio) concorda. A prioridade não é a favela, não há um planejamento para mudança ou alteração de vida das pessoas. Há uma produção de silêncio coletiva, uma produção de obediência nos lugares estratégicos. Mas o próprio governo do Estado fala dessa segunda fase, da necessidade de ocupação por aparelhos públicos. Isso não houve ainda? Há quantos anos tem UPP? São cinco anos, né? O Santa Marta foi o primeiro. Vamos lá visitar e conversar com os moradores para ver o que
_120/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e aumentou muito o número de denúncias de violação dos direitos humanos nas áreas de UPP. São diversos casos, inclusive envolvendo mortes, com a polícia, casos de violação, inclusive com homicídio. Estou falando do rapaz que estava comprando cachorro quente e foi morto por policial. No Alemão, rapaz com uma criança no colo recebeu um tiro. Outro, na Rocinha. O que gerou levantes civis contra a UPP, mostrando que nem tudo está pacificado nas relações entre Estado e sociedade, que essa relação está sendo feita exclusivamente pela polícia. A prioridade não é a favela, não há um planejamento para mudança ou alteração de vida das pessoas. Há uma produção de silêncio coletiva, uma produção de obediência nos lugares estratégicos.
está acontecendo. Não há um interlocutor da sociedade civil intermediando. É um projeto pacificador militar, de controle. Não há um projeto de reformulação, de ressignificação da vida das pessoas, por exemplo, com projetos culturais. Ao contrário, tem o grande drama hoje do funk, que em boa parte das UPPs está proibido. O Estado não investe em uma quadra que possa ter aquilo ali. Aí, nasce a figura do xerife, o cara da polícia que decide sobre o baile. Esse não é o papel da polícia. Com o tempo, isso gera desgaste. Aliás, já começa a acontecer. Houve a implantação da UPP na Cidade de Deus, mas em outras áreas de milícias o enfrentamento não aconteceu. A que você atribui isso? Quando concluímos a CPI das Milícias, em dezembro de 2008, apontamos 170 áreas do Rio de Janeiro dominadas por elas. Hoje, são mais de 300. Mas qual o elemento decisivo nessa história? De 2008 para cá, o número de milicianos presos é assustador. Vou citar de cabeça. Em 2006, tivemos 4 milicianos presos. Em 2007, 14. Em 2008, ano da CPI, 78 presos. Em 2009, são 270. Você sai de 4 para 270 e tantos presos. Em 2010, foram mais de 300. Enfim, o que o governo responde em relação ao nosso questionamento é que está prendendo os milicianos, e é verdade. A Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado (Draco) e o Ministério Público trabalharam muito em cima do relatório da CPI. Isso é dito pelo delegado titular da Draco. Eles foram presos, mas o que acontece? Milícia é máfia. Não é o conceito de Estado paralelo, porque na verdade o Estado não está ausente em lugar nenhum, ele se reproduz em suas relações políticas e econômicas mesmo quando não está presente nas garantias sociais. Mas é pior, é um Estado leiloado, porque a milícia é um consentimento. Durante muito tempo, controlou as delegacias, a merenda escolar, a indicação do diretor do hospital... Quando se fala de controle do território, não
estou me referindo ao cara controlar as ruas; ele tinha controle das instituições públicas do território e era o representante do governo ali, muitas vezes eleito vereador, deputado... Então, é máfia. Quando esse cara é preso, ele tem prejuízo político de poder, mas os seus negócios são mantidos. Por isso que no relatório da CPI tem uma série de recomendações de enfrentamento territorial e econômico. Se isso não for feito, só a prisão do líder não resolve. Ele continua comandando a milícia dentro da prisão. O que pode acontecer é ter uma guerra entre milícias porque o seu chefe está preso e outra quer tomar conta, mas você não se livrou dela. Você resolve milícia com UPP? É muito difícil, porque a milícia é a polícia. São as forças de segurança do Estado. A população que vive nas favelas e periferias não tem acesso ao Estado Democrático de Direito. É vítima do tráfico ou da milícia, ou da repressão policial representada pela UPP. Como você vê isso? Eu coloquei isso no relatório da CPI das Milícias. A milícia representava uma ameaça ao Estado Democrático, porque, ao dominar territórios, transformava o domínio econômico num projeto de poder, num projeto político. E, nesse sentido, eles tinham o domínio territorial e eleitoral. Então a milícia, mais que o tráfico, apresenta ameaça concreta ao Estado Democrático. O tráfico, como opera na barbárie e é extremamente violento, também representa outra forma de ameaça ao Estado Democrático. Mas tem hoje uma parcela muito grande, quase um terço da população do Rio, que vive nas favelas. Você não tem uma política urbana que pense a favela como um espaço constituinte da cidade. O grande desafio pedagógico, urbano e político é fazer com que a favela seja pensada como um espaço constituído da cidade. Espaço de direito, com suas manifestações culturais, mas não de fora para dentro. O debate da relação entre Estado e território, sobe-
\121_
#07_ Marcelo Freixo
rania e governança. Esses quatro elementos são decisivos. A favela tem que deixar de ser vista como problema. Comecei a fazer essa brincadeira há algum tempo. Muitos sambas cariocas e muitas falas históricas no Rio de Janeiro falam da possibilidade de um dia a favela descer. E eu sempre brinco dizendo: “Ai do Rio no dia que a favela não descer”, porque aí nada funciona. Se fosse possível, um dia, os moradores da favela combinarem de ninguém sair de casa, não tem Copa do Mundo. A cidade para. Por isso sempre falo que a luta política é pedagógica, principalmente na área de direitos humanos, que eu acho que é o grande front da luta de classes. Para mim, esse é o novo paradigma da luta de classes. Porque não é só na questão salarial, é na questão da existência, da ética. Hoje estão muito mais na porta da favela do que da fábrica as contradições entre capital e trabalho. Mas não está resolvida a primeira luta de classe, a exploração do trabalho pelo capitalismo continua... Não estou negando a relação capital trabalho. Ao contrário, só estou dizendo que a relação capital trabalho hoje, até porque o capital não é o mesmo, e nem o trabalho, não tem na porta da fábrica o seu eixo central de contradições. Porque não posso pensar o mundo através do olhar da Revolução Industrial. Tem uma parcela da população hoje que o Bauman (Zygmunt, sociólogo polonês) vai chamar de supérflua. Os supérfluos não são mais o exército de reserva. Eles estão destituídos da existência, e para que a barbárie sobre eles possa ocorrer por meio dos braços do Estado tem que haver o processo de naturalização de uma ruptura ética de uns com os outros. Eles precisam ser os outros. E esse processo de invisibilidade passa pelo não reconhecimento da existência humana. Porque, até hoje, quando a gente fala de direitos humanos, tem de dizer que não é direito do bandido. Nos
_122/
18 entrevistas _ revista caros amigos
debates dos direitos humanos, em primeiro lugar está a reafirmação de quem é humano. Vai chegar um momento que teremos de usar a lei de proteção aos animais com esses considerados descartáveis? Se usássemos já teríamos protegido muito mais alguns setores da sociedade. Se usássemos as leis de proteção aos animais, os presídios hoje seriam fechados. Ontem eu visitei um presídio. Qualquer lei de proteção aos animais fecharia aquele presídio. Não estou negando a relação capital trabalho, só que o capital especulativo hoje é muito forte. O valor do capital financeiro no mundo é três vezes maior que o PIB. O capitalismo vive sua fase mais violenta. O capital se reproduz, é virtual, não tem mais país. Torna um grupo enorme de supérfluos em descartáveis que precisam ser eliminados pela força policial, pelas guerras de gangues ou pelo sistema prisional. O número de jovens negros mortos por armas de fogo no Rio e no Brasil é maior que o número de mortos de qualquer país em guerra. O número de jovens mortos na Palestina não chega à metade do número de jovens mortos na cidade do Rio. O número de homicídios sobre brancos vem diminuindo ano a ano, o de negros vem aumentando, ao ponto de, em 2010, termos 33 mil negros assassinados para 13 mil brancos no Brasil. Porque a violência tem endereço. Tem se discutido a redução da maioridade penal, como você analisa a violência extrema entre a juventude marginalizada e a proposta de redução da maioridade penal? A população brasileira, de 2001 a 2011, cresceu 9,2%, mas a população prisional brasileira cresceu 120% no mesmo período. A gente tem um estado penal fundamentalmente direcionado à juventude pobre, negra, de baixa escolaridade, moradora de periferia. A ideia da redução da maioridade penal reforça isso. Porque você não
tem nenhum debate sobre o que significa política de educação, de assistência familiar, de moradia... Você lida com a ameaça que sofremos dos outros. Quem são os outros, eu não sei, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. Esses dias me perguntaram o que falaria se eu fosse num desses programas populares que defendem a redução, o que argumentaria? Não poderia ser pelo viés dos direitos humanos. Isso eu converso com Caros Amigos. No outro caso, tem de ser pelo debate da falta de eficácia. A redução da maioridade penal não traz a redução da violência. Ao contrário, hoje você vai colocar mais dez mil pessoas no sistema prisional e vai ampliar um processo que vem tendo resultados pífios. Hoje, o sistema prisional do Rio de Janeiro tem 70% de reincidentes que cumprem pena. E qual a nossa solução? Colocar mais gente dentro desse sistema? Prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. O debate tem que ser o da eficácia, não de valores. A pena alternativa, comprovadamente, tem um número muito maior de reinserção na sociedade que a pena privativa de liberdade. Mas a nossa cultura é escravagista, temos um pouco de senhor de engenho. A gente confunde, até hoje, justiça com vingança. Muita gente usa o argumento de que em países onde a maioridade penal é mais baixa, a criminalidade também é... Mas não se pode comparar só isso. Tem de comparar o sistema de educação, de saúde, as políticas para a juventude. E vai ver como funciona o sistema prisional desses lugares e o acesso à justiça. E, cá entre nós, precisamos cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que já prevê uma série de sanções a essa juventude dita infratora. E o estatuto nunca saiu, em sua integralidade, do papel. Antes de ser modificado, o ECA tem de ser cumprido, até para a gente saber se ele vai funcionar ou não. E onde vamos colocar essas crianças presas? Eles não querem
A favela tem que deixar de ser vista como problema. Muitos sambas cariocas e muitas falas históricas no Rio de Janeiro falam da possibilidade de um dia a favela descer. E eu sempre brinco dizendo: “Ai do Rio no dia que a favela não descer”, porque aí nada funciona. Se fosse possível, um dia, os moradores da favela combinarem de ninguém sair de casa, não tem Copa do Mundo. A cidade para. Por isso sempre falo que a luta política é pedagógica, principalmente na área de direitos humanos, que eu acho que é o grande front da luta de classes. Para mim, esse é o novo paradigma da luta de classes. Porque não é só na questão salarial, é na questão da existência, da ética. Hoje estão muito mais na porta da favela do que da fábrica as contradições entre capital e trabalho.
\123_
#07_ Marcelo Freixo
saber disso. A prisão são os muros da nossa amnésia. A gente coloca lá como se tivesse resolvido o problema. Nós não temos a página dois. As ameaças que você sofria de morte continuam? Durante a campanha, a gente teve uma exposição muito forte... Mas eu recebo muito menos ameaças hoje. Mas é ainda uma situação de muita insegurança. Continuo andando com os meus cuidados. Porque o enfrentamento é com a máfia, mesmo com o silêncio da máfia, aliás, o silêncio da máfia nos deixa mais preocupados. Na campanha a prefeito em 2012, você teve apoio de intelectuais e setores de esquerda aqui no Rio, mas não ganhou a eleição. O que sobrou desse movimento? Foi uma campanha muito forte, a gente chegou quase a 30%, quase um milhão de votos. E a verdade é que nós não tivemos um terceiro colocado com alguma expressão, porque, se tivéssemos, iríamos para o segundo turno. Não à toa o Eduardo (Paes, prefeito do Rio) tinha uma estratégia muito competente, com 20 partidos aliados para não deixar ter segundo turno. Isso lhe deu 16 minutos de televisão, era mais que o RJTV, e eu tinha 1 minuto. Mas nossa campanha gerou uma série de significados muito importantes. Vários comitês que se formaram durante a campanha continuam existindo. Foi chamado de Primavera Carioca, porque tinha muitos jovens e um forte trabalho nas redes sociais. Teve até show do Caetano Veloso e Chico Buarque com esse nome de Primavera Carioca. Hoje, existe a luta contra a privatização do Maracanã, que não é do PSol, é da sociedade civil organizada. Muitos deles se organizaram durante a campanha. Acho que a juventude ressignificou a política no Rio. Outra coisa que também acho importante para a esquerda, a gente tem um programa em conjunto, feito com os movimentos sociais. Isso, sem dúvida, foi o grande ganho da campanha,
_124/
18 entrevistas _ revista caros amigos
de retomar uma militância expressiva e espontânea. O que você acha que acontecerá nas próximas eleições no Rio? Você disse que não pretende se candidatar a governador... A gente quer fazer a disputa para 2016 para prefeito. Vou ainda debater com meus companheiros sobre a ida para Brasília, mas, a princípio, acho que ficar na cidade é melhor, porque estou próximo ao que está acontecendo e debatendo para a disputa de 2016. Se for candidato a deputado federal, pode ser melhor para o partido, por causa do tempo de TV, ajudar a eleger, talvez, outro deputado. Mas são conversas. Não saio para governador, porque não vamos dar um passo além do que a nossa perna alcança. No que diz respeito à conjuntura política no Rio, está muito aberta. O governo de Sérgio Cabral tem um desgaste muito grande com o funcionalismo público e com o conjunto da população. Tem uma entrevista do presidente do PMDB dizendo que o Beltrame teria aceitado ser vice do Pezão, mas o Beltrame negou. Há partidos que oferecem a ele ser candidato ao governo, mas o PMDB oferece ser vice de alguém com expressão política muito menor. Claro que o projeto do Cabral envolve coisas muito delicadas, então precisa ter alguém de maior confiança para conduzir. O Lindemberg tem a possibilidade de fazer como você, unir as esquerdas, se for contra o governador? Eu conversei isso com o Lindemberg. Ele disse isso para mim, que queria muito que nós estivéssemos juntos. Mas eu disse a ele: “Você hoje não tem nem condições de me dizer se é o candidato contra ou a favor do Cabral”. Porque ele pode ser o candidato do Cabral ou opositor, tudo pode acontecer. O projeto dele pode ser o de enfrentar Cabral, o que acho que vai ser bom para o Rio de Janeiro, mas não sei se será uma can-
Acho que a juventude ressignificou a política no Rio. Outra coisa que também acho importante para a esquerda, a gente tem um programa em conjunto, feito com os movimentos sociais. Isso, sem dúvida, foi o grande ganho da campanha, de retomar uma militância expressiva e espontânea. didatura para unificar as esquerdas, e nem é o projeto que o Lindemberg está desenhando. Ele está conversando mais com Dornelles (Francisco, PMDB-RJ) e com outros setores que não são da esquerda do Rio, para fazer uma composição de derrota ao PMDB, mas até lá tem muita água para rolar. O PSol terá candidato próprio. A fragmentação da esquerda não vai facilitar o trabalho do candidato do governador? É, mas hoje estão todos juntos no mesmo governo, né? O PT vai ficar até o último dia com os cargos. Por que o PT não rompe agora? Por que não entrega as secretarias? Isso é uma proposta que faço aos petistas. Entreguem agora os cargos e criem um projeto de esquerda para o Rio. Está lançado o desafio. Você sofreu há pouco com a repressão da polícia que ocorreu no museu do índio, no Maracanã. O que aconteceu? Foi uma estupidez desnecessária. Fui chamado às 4h da manhã, quando soube que o batalhão de choque ia tirar aquelas pessoas dali. Havia poucas pessoas e meu papel era mediar e não deixar acontecer o pior. Já participei de muita intermediação de conflitos em situações piores, nos presídios, em rebeliões, inclusive. Até que o comandante do batalhão de choque desauto-
rizou o negociador e assumiu a frente sem nenhum preparo. Chegou um momento que conseguimos tirar mulheres, crianças e a maioria dos manifestantes... Mas um grupo pequeno foi fazer uma dança de despedida. E eles já estavam saindo, na porta, aí tinha uma fogueira e acabou pegando fogo numa choupana. Não tinha nada a ver com o prédio, estava distante, o bombeiro entrou, apagou. Aí a polícia deu um tempo para os manifestantes saírem e, antes desse tempo se esgotar, entrou para tirar os manifestantes que faziam esse ritual. Podiam ter tirado dali carregando pelo braço, mas não, entraram jogando spray de pimenta, bomba... Houve uma revolta enorme de quem estava fora, até que veio um policial e, propositalmente, jogou spray de pimenta no meu rosto, nos defensores públicos... Depois que falamos que iríamos denunciar, jogaram uma bomba em cima, tem vídeo mostrando isso. Por que você é contra a privatização do Maracanã? O que está acontecendo com o Maracanã é símbolo do que ocorre na cidade como um todo. O Rio é a cidade dos esportes, mas onde os ciclistas treinam? Os esportistas têm muita dificuldade de praticar esporte no Rio e essa contradição tem uma razão de ser. Porque a Copa do Mundo, Olimpíada e o projeto de cidade é um projeto de negócio que envolve os interesses de determinado grupo de empresários. Você vai ter um projeto olímpico que, depois de passada a Olimpíada, será entregue à especulação imobiliária. O debate sobre o Maracanã é um jogo maior, de uma concepção de cidade. O Estado gastou nas sucessivas reformas do Maracanã 1,7 bilhão de reais, e o que pretende ter de volta na privatização fica em torno de 12% desse valor para receber em 33 anos. Tem o custo. E o lucro fica com a iniciativa privada, provavelmente com o Eike Batista ou a Odebrecht.
\125_
_126/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#08_ Maria da Conçeição Tavares _
Março de 2009
“Não vamos quebrar, e este ano crescemos 2% a 3%” “Não é a primeira vez que passamos por períodos tão duros. Estou muito velha e confesso que este eu não esperava mais, mas enfim, ainda estou viva e espero ganhar mais essa batalha.” A declaração, feita pela economista Maria da Conceição Tavares em vídeo de apoio à ex-presidente Dilma Rousseff no dia 31 de março de 2016, enquanto manifestações contra o impeachment tomavam as ruas de todo o Brasil, mostra uma mulher que, sem papas na língua, sempre manteve seu olhar crítico diante dos acontecimentos políticos e econômicos do país que adotou em 1954. Filha de pai anarquista, portuguesa de origem, tornou-se um dos grandes nomes da economia nacional. Para ela, até hoje o Brasil sofre com o ranço deixado pelo golpe de 1964, que a fez deixar o país e se refugiar no Chile, onde viveu de 1968 a 1972 e trabalhou no Ministério da Economia do governo de Salvador Allende. Responsável por ajudar a formar gerações de economistas, entre eles a ex-presidente Dilma, chega aos 86 anos, completados em 24 de abril de 2016, com a mesma lucidez que orientou sua trajetória e militância progressista. Petista desde 1989, elogia os avanços sociais dos governos Lula e Dilma, mas não perde a verve e não se esquiva de críticas, especialmente em relação a decisões econômicas. Como saída para a atual crise, defende a aliança, uma ampla frente que reúna representantes dos mais diversos setores, de líderes sindicais a empresários, intelectuais, sociedade civil e políticos. Sem perder de vista a democracia dos Trópicos de Darcy Ribeiro, que a inspirou durante décadas.
Maria da Conceição de Almeida Tavares nasceu em Anadia, Portugal, em 24 de abril de 1930. Chegou ao Brasil em 1954 e se naturalizou três anos depois. Participou da elaboração do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. Crítica ferrenha da ditadura, se notabilizou ao buscar alternativas aos modelos econômicos impostos pelo regime. Professora-emérita da UFRJ e titular da Unicamp,se filiou ao PT em 1989, depois de dez anos no PMDB. Foi deputada federal pelo partido, ao qual é filiada e assessora até hoje. ENTREVISTADORES Juliana Ennes Leandro Uchoas Mylton Severiano Raquel Junia Sergio Kalili Wagner Nabuco
\127_
#08_ Maria da Conceição tavares
MYLTON SEVERIANO - O leitor da Caros Amigos está acostumado: a gente dá o entrevistado de corpo inteiro. Eu, particularmente, amaria conhecer a sua infância. Tenho 78 anos, minha infância foi em Portugal. Fui para Lisboa com um mês e fiz toda a minha educação lá. Entrei em engenharia, depois fiz matemática. Quando vim para, cá já era casada, estava grávida e era matemática. MYLTON SEVERIANO - Por que a senhora veio? Ah, meu filho, lá não dava pé. Bom, meus pais já estavam aqui. Meu marido era engenheiro hidráulico e tinha um convite para o saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas. E lá não tinha emprego, ainda mais porque éramos de esquerda. WAGNER NABUCO - Época do Salazar. Barra pesada. Tinha acabado a guerra. Estávamos achando que o Salazar ia cair, ia democratizar. Mas nem nós nem a Espanha tivemos esse privilégio. MYLTON SEVERIANO - Como era o Brasil? Cheguei no Carnaval do Rio, meu bem. Foi aquele deslumbre. Pensei, puxa, que povo mais simpático. Agora, tive que mudar para Santa Teresa, não aguentava o calor. A desgraça é que achei que estava vindo para uma democracia, o Vargas estava no poder, o segundo Vargas. Aí minha filha nasceu no começo de agosto, e o homem se matou em seguida. Foi um susto. Acabei conhecendo uma porção de gente, um dos quais fez minha cabeça para virar brasileira, o Darcy Ribeiro, um otimista, achava que íamos virar uma nova civilização dos trópicos. Quando o Juscelino (Kubitsckek) ganhou, achei que não ia ter mais problemas. RAQUEL JUNIA - A senhora era comunista? Eu e meu marido éramos próximos. Mas não cheguei a me filiar, filiar no quê? Numa coisa
_128/
18 entrevistas _ revista caros amigos
ilegal? Deus me livre. Mas me reunia com eles. Ia no Impa, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Conheci o Mário Henrique Simonsen lá. E fui fazer economia, em 57. Era a melhor aluna do (Octavio Gouveia de) Bulhões, do (Roberto) Campos. Consegui um contrato no Instituto Nacional de Colonização e Imigração. Eu fiz as primeiras estatísticas. Virou o Incra. Fui fazer economia. Já tinha 27 anos, acabei sendo boa aluna e o Bulhões me contratou. Conseguiu que me nomeassem. Depois, fui professora da escola e fui para o BNDES, trabalhar no Plano de Metas. Já podia, era brasileira. Eu me naturalizei em 1957, convencida pelo Darcy, mas também pelo clima, com o Juscelino era um clima de “vamos para a frente”. Nunca vi tanto entusiasmo e tanta crença no país. JULIANA ENNES - Nem com o Lula? Não, ali você ia fazer o Brasil. Com o Lula, o que você ia fazer era justiça social. Não entusiasma mais as elites, só o povo. Sou petista, sou lulista. Naquela altura, a esquerda toda era contra o Vargas. Tem esse espírito dos cariocas, ser do contra. Todos diziam que era um imperialista. Agora dizem que o Lula é um populista e um vendido aos bancos (risos). A verdade é que os bancos sempre se deram muito bem, obrigado. Agora, 64 é que foi complicado. Estava dirigindo o Cepal-BNDE, formado pelo (Celso) Furtado. Fiquei assustada. Fiquei de vice-diretora em exercício, grávida do segundo filho – eu sempre entro grávida nas situações dramáticas. Agora a única coisa que pode acontecer é eu morrer numa crise mundial (risos). WAGNER NABUCO - A senhora tem memória do dia do golpe? Eu era professora da escola de Economia (Instituto de Economia da UFRJ). O diretório de estudantes é que queimou a UNE. Estava subindo para Copacabana e vi a UNE em chamas. Passei
Cheguei no Carnaval do Rio, meu bem. Foi aquele deslumbre. Pensei, puxa, que povo mais simpático. A desgraça é que achei que estava vindo para uma democracia, o Vargas estava no poder, o segundo Vargas. Aí minha filha nasceu no começo de agosto, e o homem se matou em seguida. Foi um susto.
a noite ligada no rádio. Há dois golpes que não posso esquecer. Esse e o do Chile. Tinha estado no Chile entre 68 e 73 e voltei para dar aulas. Aí, na televisão, a única coisa que a gente viu foram as cinzas e a fumaça do palácio. Tirando isso, só a agonia de umas 48 horas no DOI-Codi, sei lá por que diabo. Aliás, sei, isso foi contra o (Ernesto) Geisel, o Simonsen contou. MYLTON SEVERIANO - Foi ele que telefonou para amigos militares. Sim, senhor. Falou com o Geisel. Foi brabo, você ficava de capuz, eles ficavam enchendo tua paciência, mostrando fotografias. Eu explicava que tinha sido professora de todo o mundo, do (ex-ministro) Reis Velloso, colega do Simonsen. Eles diziam: “daqui, nem o Geisel te tira”. Já sabia o que tinha acontecido ao pobre do Stuart (Angel, assassinado num quartel da Aeronáutica), disse “bom, vou sumir”. Foi uma agonia. WAGNER NABUCO - A senhora acha que o Geisel interveio? Eu não acho, tenho certeza. Ali, se ele não tivesse tirado o (ministro do Exército Silvio) Frota, tinha caído. Era o golpe dentro do golpe. Durante dois anos, não saí do Brasil, de medo.
MYLTON SEVERIANO - Desse período, do ponto de vista econômico, teve algum saldo positivo? O econômico foi muito bem, obrigado. No período Geisel, de grande desenvolvimento, já tinha uma inflação desvairada, a dívida externa começou a subir. E não esqueça que terminaram com tudo, estabilidade no emprego. Em todo o período da ditadura, o salário mínimo caiu sem parar. Eles não fizeram nada, nada social. O Brasil ia bem, mas o povo ia mal. Você teve um esgarçamento da sociedade, cujos restos você vê até hoje. RAQUEL JUNIA - A senhora acredita que a miséria, por si só, causa revolta? O que causa revolta é o choque de classes, o choque político. Tem que ter liderança. As lideranças estavam na cadeia ou no exílio. Com o movimento em 68, começou a luta armada. É uma geração inteira que foi para o exílio. Escapei disso e, provavelmente, de alguma coisa mais grave. MYLTON SEVERIANO - E o Chile de hoje? Ela (a presidente Michelle Bachelet) é simpática, filha de um coronel. Durante o golpe foi morto o pai dela. Os militares desnacionalizaram o país, tirando o cobre, que continuou como fonte de receita fiscal. Aqui a estrutura mudou menos, tinha uma ideologia liberal autoritária. Liberal do ponto de vista econômico e, assim mesmo, não foi o tempo todo. No Geisel, foi estatizante. Quem mais estatizou neste país foi o Geisel, não foi a esquerda. O Collor, evidentemente, abriu a economia. A parte da abertura já começou no fim do Sarney, com aquele ministro Maílson da Nóbrega. Com o Collor, continuou. O Fernando Henrique fez uma coisa que foi braba. WAGNER NABUCO - Mas ele já pensava isso ou mudou mesmo?
\129_
#08_ Maria da Conceição tavares
Ele mudou. Disse: “Esqueçam tudo o que escrevi”. Aliás, era ele quem comandava o processo. Uma vez me aborreci, briguei com o (Pedro) Malan, que foi meu aluno. Falei: o que é que você está fazendo aí? Ele disse: “estou fazendo o que o presidente me manda”. No Banco Central, o garoto, o Gustavo Franco, uma vez peguei ele no avião e dei uma descompostura. “Professora, a senhora acha que eu tomo a iniciativa? Eu faço o que o presidente me manda.” Era a pura verdade. Quem sustentou toda a política econômica foi o Fernando Henrique. Estava convencido que o Consenso de Washington tinha ganho e era assim mesmo e íamos para a globalização, que era um movimento maravilhoso, a renascença. E era muito vaidoso, adorava andar com o presidente dos Estados Unidos, era VIP. Ia a seminários com o Clinton, encontros com o Tony Blair. Os três achavam que existia a terceira via – o neoliberalismo. Ele estava convencido. E mais, estou convencida de que, no íntimo, ele pensou: acabou, ganhou o Império. A verdade é que ele tinha a paz analítica real para ter mudado de posição. A União Soviética estava indo para o diabo. A China aderiu, liberalizou o comércio. Se até a China está entrando no jogo, imagine: por que é que nós aqui vamos estar bancando os nacionalistas, nacional-desenvolvimentistas? Vamos entrar no jogo. Ele fez tudo muito depressa. Não tinha tempo, tinham começado em 80. No Chile, ainda na década de 70. Foi gastar mais do que a renda, do que o produto do país, isso começou com o Clinton. JULIANA ENNES - Por que o equilíbrio fiscal não seria indicado? Porque agora eles estão em recessão. Com o Clinton, não. O equilíbrio fiscal do Clinton se deve a um boom econômico. O orçamento arrecada mais impostos, portanto, se equilibra automaticamente. Nós, quando começamos a crescer, já estávamos praticamente sem déficit. Agora,
_130/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Não, se trata de máquina rodando. Não existe lastro, que é do tempo do dólarouro, já acabou na década de 70. Já não tem lastro moeda nenhuma no mundo. Nós agora temos uma moeda totalmente ficcional, mais do que escritural. Parte do capital que sumiu era fictício. Era uma fantasia, uma pirâmide de papel. quando você está em crise, tem que gastar, não importa o déficit. Obama vai ter que fazer um déficit gigantesco interno. Em compensação, como a economia vai mal, o déficit externo vai diminuindo. É o contrário. Fomos o último país da América Latina a entrar no jogo neoliberal. Era assim: todo o mundo já entrou, menos nós, estamos tardios, vamos entrar de cabeça. Em quatro anos, ele fez coisas que a Margareth Thatcher levou 14. O Serra me mostrou o protocolo com o Fundo Monetário Internacional, que só foi apresentado 24 horas antes da assinatura e ninguém entendeu. Lá estava tudo, inclusive privatizar o Banco do Brasil e a Petrobras. RAQUEL JUNIA - A intenção era fazer um estrago maior? Bota estrago nisso. Era fazer o mesmo que na Argentina. Vender, inclusive, a Petrobras, um absurdo, já era uma coisa gigante, de importância multinacional, não tinha que vender coisa nenhuma. MYLTON SEVERIANO - A crise vai demorar? Acredito, rapaz. Nós não temos nada que ver com isso. A crise americana vai repetecar. Até porque a nossa é um produto derivado da primeira, do choque de setembro. Ninguém estava esperando que deixassem quebrar aquele ban-
co. Deixar quebrar o Lehman, realmente, só os malucos dos americanos. Mas como não estão tomando providência..., por exemplo, não estão estatizando os bancos, são contra. Os bancos não querem ser estatizados. Querem que o Tesouro pingue dinheiro no caixa deles e fique por isso mesmo. E o pobre do presidente, o Obama, não está conseguindo, porque tem os republicanos contra. E não só: os grandes negócios bancários também estão ligados aos democratas, que têm ligação com tudo, bancos, petróleo. WAGNER NABUCO - Esse dinheiro tem lastro ou é máquina rodando? Não, se trata de máquina rodando. Não existe lastro, que é do tempo do dólar-ouro, já acabou na década de 70. Já não tem lastro moeda nenhuma no mundo. Nós agora temos uma moeda totalmente ficcional, mais do que escritural. Parte do capital que sumiu era fictício. “Perdeu US$ 3 trilhões”... mas não existiam os US$ 3 trilhões! Estavam rodando no ar. Era uma fantasia, uma pirâmide de papel. Tudo começou a aparecer com o subprime no sistema financeiro de habitação. Mas não é só isso. Vocês acham que é possível ter uma economia em que as famílias estão endividadas 200% ou 300%? Não pode. Eles estão muito endividados. O dinheiro do mundo é o deles. A China e o Japão exportam em dólar. Quem financia os Estados Unidos é a Ásia. Eles não vão colocar dinheiro nenhum na economia, vão cancelar contas-fantasma. Tira o ativo podre, mas não tem dinheiro, não tem liquidez nenhuma. O banco central americano fez coisas que não fez na década de 30, quando só saíram da crise com a guerra. Essa crise começou e pode ser que continue como crise eminentemente financeira, cuja repercussão no mundo real é pequena. SERGIO KALILI - Os republicanos dizem que a culpa é do Clinton. E essas guerras?
As guerras, por mais que gastem dinheiro, não têm nada que ver. O Clinton fez uma coisa que até estão pedindo que o Obama faça, mas se Deus quiser não fará, que é o equilíbrio fiscal. Isso ele fez, teve um boom econômico. A pirâmide de papel e o endividamento das famílias sem cobertura de renda. SERGIO KALILI - Professora, Amyr Khair mandou uma pergunta: é importante o governo investir para que a gente arrecade mais? E reduzir a taxa Selic? Eles colocaram a taxa zero nos EUA. Por que a gente mantém os juros altos aqui? O dinheiro estava indo para lá, agora em janeiro já não está indo. Por isso que a gente vai ter outra crise. Agora, vai ser uma atrás da outra. WAGNER NABUCO - Por que a gente mantém os juros altos? Isso foi uma calamidade. Estamos com nível de investimento externo que é o mesmo, a entrada de capital estrangeiro superando o Fernando Henrique. Só que no Fernando Henrique era para comprar ativos já existentes. A diferença é que ele colocava a taxa lá em cima para atrair capital para comprar as estatais. Com empréstimos externos, endividou todo o mundo e teve uma crise cambial. Nós não. Não estamos endividados externamente. Ao contrário, pela primeira vez na história, o governo brasileiro, durante uma crise mundial, não está endividado com o exterior. A nossa dívida soberana é soberana mesmo. Continuamos com um banco central ortodoxo, porque taxas de juros altas são uma prática no Brasil. Isso foi uma desgraça para retomar o investimento. Mas foi retomado, não? Agora temos uma vantagem que os outros não têm. Como temos taxas de juros altas, podemos baixar e eles não podem. É uma desgraceira que no passado foi perversa e que pode agora ser convertida numa vantagem comparativa. Espantoso, não é?
\131_
#08_ Maria da Conceição tavares
WAGNER NABUCO - Mas o Meirelles faria? Não, mas o presidente tem que obrigá-lo a fazer. O cara que estava no Fed foi colocado lá pelos mais reacionários. Aliás, o secretário do Tesouro é um enorme reacionário. A equipe econômica do Obama é idêntica à que lá estava. Nem por isso a política tem que ser a mesma. Os Estados Unidos não estão resolvendo o problema financeiro porque a estrutura americana hoje é mais complicada e bandida do que a de 30, e porque os grandes bancos estão quebrados. A bandidagem é emitir derivativos de terceira ordem, começar a somar coisas que não existem. WAGNER NABUCO - As taxas do Bradesco estão maiores. Eles estão com dinheiro e não estão emprestando. O dinheiro está estancado. Estancado coisa nenhuma, estão metidos em tudo quanto é negócio internacional. O Unibanco e o Itaú emprestaram dinheiro para os argentinos comprarem sua própria petroleira. Mas o Bradesco, que eu saiba, não está metido em negócios internacionais pesados, não é um banco internacionalizado. Tem mais a coisa do risco da inadimplência, é mais a paúra e o conservadorismo do gerente. A tendência do mercado é sempre piorar as coisas. Eles têm um efeito amplificador, não estabilizador. Não sei quem inventou que o mercado que se autorregula é um efeito estabilizador da economia capitalista. Não é verdade. O único estabilizador é o setor público. Do ponto de vista mundial, não estou otimista, porque vai ter uma segunda pancada. Como esse pacote é insuficiente, e eles não vão estatizar os bancos mesmo, ao que tudo indica, porque não passa no Congresso nem na opinião pública, vai ser barra. Aqui não tem nenhum banco mal, nem grande empresa. Quem deve estar mal são as pequenas e médias, mas não estão à beira da quebra. O Banco Central fez uma coisa boa: usar parte das reservas para financiar exportadores. Tivemos um primeiro sinal da crise mundial na balança
_132/
18 entrevistas _ revista caros amigos
comercial de dezembro. A indústria caiu uma barbaridade, porque a indústria automobilística sozinha estava produzindo cinco milhões de automóveis, é mais do que cada país individualmente, menos Estados Unidos. Não dá. Ter a segunda indústria automobilística do mundo para um país como o nosso é muita pretensão, não? Nós costumávamos ter a oitava. Então, teve um aumento brutal de estoques, e um ajuste em dezembro, mas em janeiro já começou a recuperar. Então não é recessão, é pequena. MYLTON SEVERIANO - Então é uma marolinha mesmo? Não, marolinha subestima a possibilidade de que a crise internacional, se agravar, não vai atingir o Brasil, e vai, a menos que a gente consiga ser tão criativo e fazer negócios não sei com quem, porque já estamos fazendo com todo o mundo. Na verdade, se fez desvalorização boa, e bote boa nisso, e não aconteceu o impacto na inflação que temiam. É por isso que eles atrasaram. Aqueles cretinos são tão conservadores que ficaram esperando ver isso, porque eles não movem um pé. Deu para desvalorizar o câmbio. Do ponto de vista comercial, é bom. Você pode exportar mais e pode parar de importar certas bobagens. Outra coisa: o governo pode baixar a taxa Selic. Outra: pode emprestar mais para exportação, em dólares, porque tem reservas. Se baixar a Selic, você melhora a situação fiscal do superávit. Não basta falar que os bancos têm de fazer, não basta os bancos públicos baixarem. JULIANA ENNES - Mas a senhora falou em o Lula forçar o Meirelles a fazer isso. Se ele não vai fazer, adiantaria trocar a presidência do Banco Central? Não! Porque o Banco Central tem uma tradição de autonomia, desde o Delfim Netto. Desde a crise da dívida externa, eles implantaram o modelo do FMI. Quando entramos com a moratória,
ao pedir dinheiro ao Fundo, eles implantaram a metodologia e nunca mais tiraram. Apesar de dizerem que não devem mais nada ao Fundo, ele está lá, desde 1982. É isso e mais uma burocracia conservadora mesmo, ninguém que senta no Banco Central vira progressista. Se eu sentar, também não fico progressista. Aquilo para você é ativo, para mim é passivo. O Banco Central é o espelho, é o reverso das operações econômicas de toda a sociedade. RAQUEL JUNIA - Mas a senhora iria para o Banco Central? Coisa nenhuma. Primeiro que ninguém me convidaria, ninguém é maluco. Se cada vez que falam que é o (Luiz Gonzaga) Beluzzo já é um rebu... Graças a Deus virou presidente do Palmeiras, aí ninguém fala mais nele. É aquela mansidão do Beluzzo, imagine eu... E mulher presidente do Banco Central não tem. Pode ter presidente da República, que manda menos nessas questões que o Banco Central. SERGIO KALILI - A crise pode ser uma chance de o Brasil fortalecer a economia? Não. Dá para continuar a tentar fazer um modelo mais inclusivo, a despeito da economia não ir bem. Nenhuma economia vai bem com crise, nem a chinesa. Mas uma coisa é não ir bem, outra é quebrar. Não vamos quebrar. Também não vamos parar os investimentos públicos nem os programas sociais. Eu acho que este ano nós crescemos entre 2% e 3%. SERGIO KALILI - Então a ideia é continuar investindo? Claro! E gastando. E não apenas no social da Bolsa Família, é em saúde, em educação. Manter os concursos, de que eles reclamam. Assim como os americanos acham que o problema é o salário dos executivos, eles aqui acham que é o empreguismo.
Tem mais a coisa do risco da inadimplência, é mais a paúra e o conservadorismo do gerente. A tendência do mercado é sempre piorar as coisas. Eles têm um efeito amplificador, não estabilizador. Não sei quem inventou que o mercado que se autorregula é um efeito estabilizador da economia capitalista. Não é verdade. O único estabilizador é o setor público. Do ponto de vista mundial, não estou otimista, porque vai ter uma segunda pancada. Como esse pacote é insuficiente, e eles não vão estatizar os bancos mesmo, ao que tudo indica, porque não passa no Congresso nem na opinião pública, vai ser barra. Aqui não tem nenhum banco mal, nem grande empresa. Quem deve estar mal são as pequenas e médias, mas não estão à beira da quebra.
\133_
#08_ Maria da Conceição tavares
WAGNER NABUCO - O que vai dar no próximo embate entre o Serra e, possivelmente, a Dilma? Do ponto de vista econômico, não creio que vão dizer coisas muito diferentes. A coisa do social do Serra é que não é muito confiável. Mas ele não é idiota. A diferença vai ser o discurso político. Que ideia de jerico dos tucanos colocar aquela anta para concorrer com o Lula nas últimas eleições! Não estou preocupada com qual vai ser o discurso eleitoral, é como vai ser a situação da economia mundial e nacional. Porque 2009 está garantido, mas 2010 não sei. Projeções econômicas agora são uma palhaçada. SERGIO KALILI - E a solução de comercializar mais com países da América Latina? Já estamos comerciando. Duvido que hoje o PSDB seja contra. Se o Serra chegar hoje na televisão dizendo que vai parar o comércio com a Argentina, vai levar uma trombada, até porque quem fez originalmente esse comércio foram as multinacionais. Se ele disse isso, ele emburreceu, ou para agradar a outros interesses, conservadores muito pesados. O Serra não tem nada de burro. A única diferença é política e de temperamento. A Dilma é uma mulher forte, mas não é autoritária, e o Serra é autoritário de nascença. WAGNER NABUCO - Ele é fiscalista, sabe arrecadar imposto. Sabe, e gasta mal, esse é o problema. Fiscalista no pior sentido. A Dilma falou uma coisa importante: precisamos cuidar da reforma do Estado, ter um Estado forte, bem aparelhado, com meritocracia. Tivemos 21 anos de ditadura, mais 14 de neoliberalismo. Você há de convir que é brabo. Agora tem que consertar, senão você passa a ter uma democracia ineficiente, medrosa, corrupta. Ser funcionário público é palavrão nesse país. WAGNER NABUCO - A senhora é a favor da entrada da Venezuela no Mercosul?
_134/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Claro. Na verdade, ela já está. LEANDRO UCHOAS – Qual é o impacto da crise financeira nesses países? Muito grande. A Venezuela está mal, o Chávez não fez coisa alguma quando o petróleo estava lá em cima. Continuam importando alface, tudo, a mesma brincadeira. Agora, que o petróleo está lá embaixo, ele está querendo fazer. Mas agora está falido. É o petróleo que o sustenta. Não fez indústria, não fez agricultura. Só fez distribuir dinheiro ao povo. Mas aí é a tese ridícula de que você pode resolver o problema de um país permanentemente tirando dos ricos e dando aos pobres. Nem é tirando dos ricos. Ele tirou da petroleira, a PDVSA, uma das grandes do mundo e está quase falida. Economicamente, o governo dele é um desastre. Maior que os argentinos, que Cuba. Mas ele é nacionalista. Importante, porque segura os gringos. A população está com Chávez porque é tão pobre, tão marginalizada, que ele é uma espécie de Padre Cícero moderno. Quem não gosta de um Padre Cícero? Mas não é correto estrategicamente. SERGIO KALILI - Qual é a opinião da senhora sobre a Alba (Alternativa Bolivariana para as Américas)? É maluquice deles. Estou falando da Unasul (União das Nações Sul-Americanas). Quando eles vieram com a Alba e nós com o Mercosul, começou-se a falar da Unasul, cujo objetivo é integrar a América do Sul. Seria desejável fazer uma união, o Leste Asiático também está fazendo. Nosso comércio com a América do Sul hoje já é mais importante do que com os Estados Unidos. SERGIO KALILI - A senhora é socialista? Sim, senhor, desde menina. Meu pai era anarquista, eu melhorei. Meu pai era “hay gobierno?, soy contra”.
A Dilma falou uma coisa importante: precisamos cuidar da reforma do Estado, ter um Estado forte, bem aparelhado, com meritocracia. Tivemos 21 anos de ditadura, mais 14 de neoliberalismo. Você há de convir que é brabo. Agora tem que consertar, senão você passa a ter uma democracia ineficiente, medrosa, corrupta. Ser funcionário público é palavrão nesse país.
JULIANA ENNES - Mas acredita em um dia o Brasil virar uma social-democracia? Sim, espero. Meu partido, o PT, como o Partido Socialista chileno, é social-democrata. Não estamos querendo uma ditadura do proletariado. JULIANA ENNES - Mas a senhora, quando saiu do PMDB e se elegeu deputada federal pelo PT, disse que preferiria os loucos aos corruptos. Ainda daria essa definição? O PT hoje não é um partido de loucos, é um partido de governo, instalado, institucional. MYLTON SEVERIANO - A senhora gostou do Parlamento? Era divertido, mas não posso ter gostado, foi a altura em que desmontaram tudo, fomos esmagados, de 94 a 98. Fui útil como professora da bancada. Ficava correndo de comissão em comissão. WAGNER NABUCO - A Dilma é bem preparada? Lógico. Ela foi minha aluna no doutorado. É uma mulher brilhante, de energia. Entende pra bur-
ro, passou a vida profissional fazendo isso. E é boa operadora. O José Dirceu não operava aquela Casa Civil, tinha ambição política, tinha a briga dele com o ministro da Fazenda. E ela não briga com ninguém. Não precisa brigar, agora (o ministro da Fazenda) é o (Guido) Mantega, um bom menino. Mas tampouco briga com o Banco Central. É a política do Banco Central, uma instituição independente. O José Dirceu era mais rude e competia pelo poder político. A Dilma fica calada, nem tenta negociar com coisas que é melhor não negociar, como a direita de São Paulo. Mas a Dilma tem um aspecto de dama de ferro. Mulher não tem jeito, para se fazer na vida não dá para ser mansa. SERGIO KALILI - Ela é carismática? Não. Carismático é o Lula, mas isso não tem jeito. SERGIO KALILI - Dá para transferir? O carisma, não, mas o prestígio, sim. SERGIO KALILI - E o voto? No Nordeste, sim, seguramente. Ninguém vai votar no Serra no Nordeste. Os nordestinos odeiam o Serra, odeiam São Paulo. WAGNER NABUCO - O Serra cresceu em São Paulo. Sim, mas não é um político de São Paulo. Ninguém do Nordeste, nem mesmo a direita nordestina, vai com o Serra. O único nordestino que vai com ele é o Jarbas Vasconcelos. RAQUEL JUNIA - E a senhora acha que a Dilma precisava fazer plástica? Eu, pessoalmente, não sou a favor da plástica, mas é que sou da velha guarda. O pessoal até acha que faço, porque não tenho muita ruga, e acha que pinto o cabelo, mas não pinto, tenho aqui o branquinho como prova. Acho que a Dilma ficou bonitinha.
\135_
_136/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#09_ Maria Lucia Fattorelli _
Novembro de 2015
Opressão financeira “Um sumidouro de recursos.” É assim que a auditora Maria Lúcia Fattorelli se refere à dívida pública brasileira. Um sistema que, segundo ela, segue uma lógica perversa em que, ao invés de gerar recursos para investimentos que beneficiem a população, transfere somas vultuosas ao setor financeiro em uma conta “ilegítima e ilegal” paga, na última ponta, pela sociedade. Em agosto de 2015, a organização Auditoria Cidadã da Dívida, fundada há 15 anos pela auditora aposentada da Receita Federal, calculava que mais de 70% do endividamento da União pode ser creditado a esses mecanismos de legalidade questionável e políticas que perpetuam benefícios ao mercado desde os anos 70. Crítica dos rumos da política econômica brasileira, da alta de juros e do ajuste fiscal, defende transparência e uma auditoria profunda dessas dívidas. Sobre o pagamento ao FMI, em 2005, afirmou em entrevista à Caros Amigos em novembro de 2015, que foi apenas uma medida para causar impacto na opinião pública, porém, inócua e até mais danosa aos cofres públicos. Em 2007, convidada pelo governo do Equador, colaborou na identificação e comprovação de diversas ilegalidades no endividamento do país, esforço que resultou na anulação de 70% da dívida pública equatoriana com bancos privados internacionais.
Maria Lucia Fattorelli nasceu em 10 de abril de 1956 em Belo Horizonte (MG). Auditora fiscal aposentada da Receita Federal, é fundadora e coordenadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Participou da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Pública no Equador, além de integrar o Comitê pela Auditoria da Dívida Grega. Acompanhou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a dívida no Brasil, em 2010. Foi candidata, não eleita, a deputada federal pelo Distrito Federal pelo PSol em 2014. ENTREVISTADORES Aray Nabuco Lúcia Rodrigues Nina Fideles
Na Grécia, auditora ao lado de especialistas internacionais no Comitê pela Auditoria da Dívida Grega, identificou o mesmo “sistema da dívida”. Um esquema, afirma Maria Lúcia, controlado por bancos e grandes empresas, nem um pouco distante do pagamento dos juros da dívida brasileira.
\137_
#09_ Maria Lucia Fattorelli
NINA FIDELES - Num histórico da dívida, como começou? A nossa dívida começou no dia que foi declarada a nossa Independência, em 1822. Portugal havia contratado uma dívida junto à Inglaterra para lutar contra a nossa Independência. Como não conseguiram barrar, nos empurraram a dívida. Eu tenho mencionado muito isso porque depois de anos investigando a dívida aqui no Brasil em âmbito federal, nos estados, a dívida no Equador, na Argentina, criei uma expressão que se chama “sistema da dívida”, porque era para diferenciar o que é endividamento público legítimo – eu não gosto de fazer discursos moralistas como se dívida fosse um pecado, não, não é. Eu gosto de dar um exemplo, imagina se hoje a presidente falar: “Nós vamos fazer um projeto para que todas as escolas do Brasil sejam escolas supertop”. Isso vai demandar recursos, e ela fala: “Nós vamos fazer uma emissão especial de títulos, e só os cidadãos e empresas brasileiros podem comprar e a remuneração vai ser poupança”. Isso é uma dívida, uma dívida interna supertransparente, legítima, porque vamos ter que pagar, mas tem contrapartida. O que a gente critica é essa dívida que não tem contrapartida, que você não sabe quem se beneficiou, onde foi aplicado o dinheiro, quanto custou. Como a gente chegou numa dívida interna hoje de 3 trilhões e 892 bilhões? LÚCIA RODRIGUES - Antes se dizia que devíamos para o FMI. E agora, para quem foi transferida essa dívida? A dívida com o FMI sempre foi a mais insignificante, sabia disso? As pessoas acham que o FMI lá na década de 1980 era o nosso maior credor. O FMI sempre foi um credor irrisório, mas ele sempre apareceu muito porque agiu em defesa do setor financeiro privado. Construíram isso no imaginário coletivo, então, quando o Lula pagou para o FMI, todo mundo achou que não tinha mais dívida externa.
_138/
18 entrevistas _ revista caros amigos
ARAY NABUCO - Qual foi a vantagem de ter pagado o FMI em 2005? A vantagem era para o próprio FMI. E para o Lula foi uma jogada política, aproveitando desse imaginário popular. Tecnicamente, o que foi o pagamento ao FMI? A dívida com o FMI era uma dívida de US$ 15,5 bilhões e custava 4% de juros ao ano. Os empréstimos com o FMI, historicamente, tiveram taxas de juros muito pequenas. Por quê? O maior preço é o condicionamento (a políticas econômicas determinadas pelo órgão). Ele nunca entrega o dinheiro, fica em stand by, quando surge uma obrigação de o país pagar um banco, o dinheiro vai direto lá, não entra aqui. Em parte é barato porque ele não entrega aqui, o dinheiro já serve ao propósito que ele quer. NINA FIDELES - Que é salvar bancos... É salvar bancos sempre, defender o sistema financeiro. E você tem que se comprometer com o tal do artigo 4º do estatuto, que é permitir que o FMI monitore a sua economia, ter direito de ter acesso a toda e qualquer informação. E até hoje o Brasil é assim, porque, quando eu falo que não significou nenhum benefício para o Brasil, é nenhum mesmo. Um benefício poderia ser ficar livre desse monitoramento, mas no dia em que o Brasil pagou o FMI, (Antonio) Palocci ainda era ministro da Fazenda e publicou na página do ministério, com destaque, uma carta que dizia o seguinte: “O pagamento ao FMI não significa descumprimento com o exposto no artigo 4º lá do estatuto”. ARAY NABUCO - Mas por que o governo continuou prestando conta? Então, é essa coisa ridícula. O que eles querem é a autonomia do Banco Central, entre várias outras coisas que não interessam ao Brasil, nenhuma. ARAY NABUCO - Mas Dilma manteve o BC atrelado ao governo, não atendeu a essa exigência.
A nossa dívida começou no dia em que foi declarada a nossa Independência, em 1822. Portugal havia contratado uma dívida junto à Inglaterra para lutar contra a nossa Independência. Como não conseguiram barrar, nos empurraram a dívida. Eu tenho mencionado muito isso porque, depois de anos investigando a dívida aqui no Brasil em âmbito federal, nos estados, a dívida no Equador, na Argentina, criei uma expressão que se chama “sistema da dívida”, porque era para diferenciar o que é endividamento público legítimo – eu não gosto de fazer discursos moralistas, como se dívida fosse um pecado. Não, não é
Não atendeu. Mas, em Brasília, tem lobistas visitando parlamentares, vários já conversaram conosco, vai chegar nisso. Bom, eu deixei para trás a questão do pagamento ao FMI, deixa eu retomar. Então, a dívida com o FMI era de US$ 15,5 milhões e custava 4% ao ano. Nós estávamos em 2005, com o dólar caindo, já estava em torno de R$ 2,80 e todo mundo sabia que ia continuar caindo, tanto que chegou a R$ 1,50. Todo mundo sabia porque foi uma política deliberada dos Estados Unidos de desvalorizar a própria moeda. Nessa época, o dólar virou assim como se fosse um mico, todo mundo que tinha ativo em dólar queria ficar livre e trocar por alguma moeda que estivesse valorizando. O Banco Central fez o movimento contrário, se abriu para aceitar os dólares que estavam entrando no Brasil de montão e aplicou esses dólares em títulos da dívida norte-americana. Então, nós trocamos uma dívida em dólares com o FMI, moeda cujo valor estava caindo - se tivesse esperado até 2007, quando a dívida venceu, seria R$ 1,50 -, e pagamos a R$ 2,80. E, para pagar, emitimos títulos da dívida interna em reais a 19% de juros. A dívida mudou de mão, deixamos de dever ao FMI a 4% e passamos a dever aos bancos que compraram os títulos da dívida a 19%. ARAY NABUCO - Essa é a taxa que o Brasil ainda paga? Não, a Selic agora está 14,25%, mas os títulos que estão sendo negociados, o último foi 16,4% (fim de outubro). NINA FIDELES - Mais do que a taxa Selic. Mas isso é histórico, sempre na hora de vender os títulos. Você sabe como é que funciona essa coisa de vender os títulos? O Tesouro emite, o Banco Central leiloa e, na hora do leilão, os dealers é que participam. NINA FIDELES - Quem são esses dealers?
\139_
#09_ Maria Lucia Fattorelli
Doze bancos. Nem sempre bancos, tem uma tal de Renascença. Conhece essa corretora? Ela sempre é dealer, isso é uma coisa interessante. NINA FIDELES - São públicos os dados de quem são esses dealers? Sim. ARAY NABUCO - O BC informa quem compra títulos? Antes era aberto no site do Tesouro. Depois sumiu. A gente entrava com um pedido de informação de quem eram os dealers. Agora não está muito evidente não, mas aparece. ARAY NABUCO - Como se chegou nesses 12 dealers? Muda sempre de seis em seis meses. É uma portaria conjunta do Banco Central e Tesouro, mas não muda totalmente, tem uns que nunca saem. Essa Renascença, por exemplo. ARAY NABUCO - Eles compram e repassam para os clientes, é isso? Repassam ou não. A gente não sabe, porque aqui no Brasil a informação de quem são os detentores dos títulos é considerada sigilosa. Esse é um dos pontos que a gente critica fortemente, porque a dívida pública quem paga é o povo. NINA FIDELES - É quem tem na mão o país, né? Exato. Olha, até os Estados Unidos, que são o berço do liberalismo, divulgam. Nós só sabemos que US$ 260 bilhões dos nossos US$ 370 bilhões de reserva são aplicados na dívida americana, não porque o Brasil divulga, mas porque os Estados Unidos divulgam. ARAY NABUCO - Então, o PT continuou com a mesma política financeira? Não mudou absolutamente nada. Não só o PT. Essa política é desde o “descobrimento” do Brasil. Nós só tivemos dois enfrentamentos nessa
_140/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Nós nascemos endividados e nossa primeira dívida já é uma dívida dentro do esquema do sistema da dívida. O que é o sistema da dívida? É a usurpação do instrumento do endividamento público, porque o endividamento público deveria ser um instrumento para complementar os recursos estatais para garantir as obrigações do Estado perante a população, não é isso? Deveria. política. Getúlio, sem querer, determinou uma auditoria da dívida em 1931. Impressionante o resultado, e essa história é abafada também. Naquela época, era o presidente que assinava pessoalmente as autorizações para as remessas ao Exterior. Depois de um ano e pouco, Getúlio falou: “O que tanto eu assino? Eu quero saber”. E quando ele pediu os contratos, sem querer, determinou uma auditoria. O que é uma auditoria? É você analisar, investigar os documentos que respaldam aquela dívida, checar. Para resumir, apenas 40% da dívida estava documentada, não existia controle das remessas nem contabilidade da dívida. Era tudo feito lá fora. Com essa revisão, ele reduziu à metade tanto o estoque da dívida, como o fluxo do pagamento. ARAY NABUCO - E o outro? Foi o Juscelino. Quando ele assumiu, o FMI, a tropa toda veio e queria impedi-lo de construir Brasília e obrigá-lo a cumprir a meta do superávit primário e não fazer aqueles investimentos. Você se lembra das metas? Energia, educação,
transporte, indústria e tudo mais. O Juscelino, homem superinteligente, dizem que perdeu a paciência e mandou os caras para aquele lugar. Depois, o ministro dele de relações exteriores, que era o Celso Furtado, teve que ficar botando pano quente (risos). ARAY NABUCO - A gente não concluiu o histórico da dívida... Nós nascemos endividados e nossa primeira dívida já é uma dívida dentro do esquema do sistema da dívida. O que é o sistema da dívida? É a usurpação do instrumento do endividamento público, porque o endividamento público deveria ser um instrumento para complementar os recursos estatais para garantir as obrigações do Estado perante a população, não é isso? Deveria. E é um instrumento que pode ser superimportante e muito bem utilizado, inclusive com a participação da sociedade para contribuir e para vigiar. Mas, quando a gente começou a investigar, começou a encontrar dívidas sem contrapartida, então o que é isso? Dívida pressupõe contrapartida. Então, como isso está classificado como dívida? Nós começamos a chamar isso de sistema da dívida. E começamos a identificar como ele opera. ARAY NABUCO - “Dívida”, nesse caso, é um nome bonito para fraude? Em boa parte é fraude. Porque nós estamos falando de uma usurpação de um instrumento, usando mecanismos financeiros. Você quer um exemplo bem atual do sistema da dívida? Essas operações swap cambial. Vocês estão acompanhando esse prejuízo do Banco Central? A gente vê nos jornais como se fosse uma fatalidade. Agora, o último aqui parece que foi 38 bilhões em um mês (no mês de setembro, R$ 38,6 bi). O que é isso? O dólar estava lá em baixo, todo mundo sabia que ele estava baixo demais e ia subir. Bancos e grandes empresas queriam
comprar dólar. Aí, o Banco Central disse assim: “Não, não compre, senão a procura por dólar vai ficar muito intensa e isso pode provocar inflação. Em vez de comprar dólar, assina esse contrato aqui comigo, se o dólar subir, eu te pago a diferença”. O Banco Central fez mais de 300 bilhões de contratos em dólar. O dólar subiu, eles têm que pagar a diferença. E como que ele paga? Ele vira para o Tesouro e fala: “Tesouro, emite título da dívida”. O Tesouro emite título da dívida, entrega de bandeja, e o Banco Central paga e isso vai para a conta dos juros da dívida. E está aumentando a dívida. Só este ano, o prejuízo com essas operações de swap cambial, nos últimos 12, 13 meses, com a entrada desse aqui (novembro), chegou a quase 200 bilhões de reais. ARAY NABUCO - Uma operação que sabidamente vai dar prejuízo, como fazem? O prejuízo operacional do Banco Central em 2009 foi de R$ 147,7 bilhões, ninguém fala nisso. Olha bem o escândalo que estão fazendo com o Petrolão, Mensalão e, em um ano, o prejuízo do Banco Central foi de R$ 147,7 bilhões. Agora, é o que você falou, se está fazendo uma operação que começou a dar prejuízo, no mínimo, você para, no mínimo. LÚCIA RODRIGUES - O Banco Central não é independente, se reporta à presidente. Em tese. Primeiro erro: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é essa lei que todo mundo acha que moraliza o gasto público e tudo mais. Ela coloca limites para o gasto com pessoal, não pode contratar mais professores, médicos etc. do que aquele limite. Mas o que ela diz? Qualquer que seja o prejuízo da política monetária, prejuízo do Banco Central, esse prejuízo é assumido pelo Tesouro Nacional. Então, ou o Tesouro paga com os recursos orçamentários ou corta gastos etc. para pagar, ou emite títulos, entendeu?
\141_
#09_ Maria Lucia Fattorelli
Socializa esse prejuízo. E, do outro lado, quem ganha? Os bancos. Só para concluir o que você tinha perguntado, a questão é: os presidentes da República, os ministros têm responsabilidade, e isso é uma das coisas que a gente quer com a auditoria da dívida. Hoje, o que é essa dívida de R$ 3,803 (trilhões)? Cerca de R$ 1 trilhão são as tais operações de mercado aberto, uma operação que os bancos centrais do mundo inteiro fazem para controlar o volume de moeda em circulação. Isso se chama controle da base monetária. Isso é importante porque, se tem excesso de liquidez, teoricamente – é uma teoria meio questionável –, pode gerar inflação. Então os bancos centrais do mundo inteiro vigiam a base monetária correspondente ao volume de moeda circulante e depósitos à vista. O que o Banco Central do Brasil faz? Ele estabelece para o Brasil uma base monetária muito baixinha, 5% do PIB, na verdade. Nos Estados Unidos, Europa, China, Japão, é em torno de 40%. Isso é um debate que os grandes economistas não entram não, e é importantíssimo. Eles ficam muito presos às teorias. ARAY NABUCO - E como impacta essa diferença? Impacta porque eles têm dinheiro para investir. Aqui no Brasil, é impressionante o discurso da escassez, nesse país que não tem dinheiro para nada... Nós somos um dos países mais ricos do mundo, aqui é o país da abundância e o discurso é o discurso da escassez. O que o Banco Central aqui faz? Recolhe o que ele considera excesso, acima desses 5% já é excesso, retira da circulação e entrega título para o banco e paga o maior juro do mundo. Qual o reflexo disso? Primeiro, o Banco Central não pode fazer absolutamente nada com esse dinheiro que ele recolhe, como aplicar, porque a operação se chama compromissada. O Banco Central tem o compromisso de desfazer na hora que o banco quer. É um dinheiro simplesmente esterilizado. Os juros dessas operações de
_142/
18 entrevistas _ revista caros amigos
mercado aberto são pagos em dinheiro. Então, o Tesouro não tem, corta onde for para pagar esse juro à vista. E qual é o reflexo disso para a economia? Eu pergunto: se o Banco Central não tivesse enxugado quase R$ 1 trilhão, imagine os bancos com R$ 1 trilhão em caixa, eles iam guardar esse dinheiro na gaveta? ARAY NABUCO - Não. Iam emprestar, pôr no mercado. Mas o mercado não está a fim de pagar os 200%, 300% de juros que eles querem. O que eles tendem a fazer? Baixar os juros. LÚCIA RODRIGUES - Óbvio. Está vendo como é fácil? E porque as taxas de juros de mercado são abusivas no Brasil. LÚCIA RODRIGUES - Como romper com essa lógica nesse mundo financeirizado que a gente vive hoje? Olha, eu vejo que não é difícil romper. Em primeiro lugar, é conscientizar as pessoas de que a coisa pode ser diferente. Todo mundo vive hoje como se estivesse dentro da Matrix. Isso foi colocado. Mas a gente não tem que ficar ali, porque a realidade não é aquilo, aquilo é um cenário. Nós temos que sair desse cenário. E para sair desse cenário, a gente tem que identificar como nós fomos colocados aí. E, na área que a gente atua, nós identificamos exatamente a questão da dívida pública e o modelo tributário. Porque o modelo tributário é a via mais óbvia de praticar a distribuição de renda. Você cobra de quem tem muito, o recurso chega ao Estado, o Estado garante políticas públicas para todos. O Brasil faz o contrário. É o mais injusto do mundo. E qual é o papel da dívida nessa história? A dívida, a gente vê que não tem praticamente contrapartida, é um grande esquema. Essas operações de mercado aberto nada mais são do que a remuneração de sobra
de caixa dos bancos. Então, R$ 1 trilhão tá aí, nos últimos 12 meses, quase R$ 200 bi em swap. Só esses dois mecanismos já pegam 1/3 da dívida. E essa taxa de juros abusiva imposta ao país não tem justificativa técnica, nem política, nem jurídica, nem econômica. É uma questão deliberada para amarrar o país. ARAY NABUCO - O que a senhora achou da política da Dilma, que conseguiu num primeiro momento derrubar a Selic? Chegou a 7,25%. Foi positivo, sem dúvida, para vários custos do país, mas os rentistas da dívida levaram os títulos a mais de 10% nos leilões, os dealers. ARAY NABUCO - A Dilma teve que ceder à pressão e aumentar? Acho que ela não teve que ceder não, eles simplesmente fazem. E as campanhas da Dilma foram fortemente financiadas pelos bancos, é uma informação que está na base do TSE. O sistema da dívida, a gente representa como um conjunto de engrenagens, uma delas é o financiamento de campanha. NINA FIDELES - Essa questão da dívida, é o mesmo esquema aqui, na Grécia, no Equador...? Equador primeiro. Em todos os lugares, é a atuação do que a gente chama sistema da dívida. Dívida sem contrapartida, usurpando o instrumento do endividamento público e beneficiando o setor financeiro privado. No Equador, meu foco era a dívida externa com bancos privados internacionais. Foi nessa subcomissão que trabalhei. Pudemos comprovar o endividamento na década de 70, período da ditadura, utilizando as empresas estatais. Por quê? Porque essas tinham renda e faziam contrato vinculando a receita de lá ao pagamento. Então, aqueles empréstimos eram com taxas de juros aparentemente muito baixas, em média de 5% ao ano. Eram
Aqui no Brasil, é impressionante o discurso da escassez, nesse país que não tem dinheiro para nada... Nós somos um dos países mais ricos do mundo, aqui é o país da abundância e o discurso é o discurso da escassez. O que o Banco Central aqui faz? Recolhe o que ele considera excesso, acima desses 5% já é excesso, retira da circulação e entrega título para o banco e paga o maior juro do mundo. Qual o reflexo disso? Primeiro, o Banco Central não pode fazer absolutamente nada com esse dinheiro que ele recolhe, como aplicar, porque a operação se chama compromissada. O Banco Central tem o compromisso de desfazer na hora que o banco quer. É um dinheiro simplesmente esterilizado.
\143_
#09_ Maria Lucia Fattorelli
empréstimos à vontade. Por exemplo, se uma hidrelétrica queria fazer um investimento, precisava de US$ 1 milhão, os bancos mandavam seus agentes, tem até um livro que trata disso, Confissões de um Assassino Econômico (de John Perkins). O autor trabalhou no FMI, foi agente do mercado e relata isso que ele fazia. Eles falavam: “Um milhão? Pega dez. Aumenta esse projeto um pouquinho, eu ainda te dou carência, você não precisa pagar nada, seu sucessor que vai pagar”. Por que era assim? De onde vinha todo esse dinheiro? Em 1971, nós tivemos o fim da paridade dólar/ouro nos Estados Unidos e, a partir desse momento, emitem dólar à vontade, e os bancos saíram pelo mundo emprestando. O Fed norte-americano é privado, é controlado pelos maiores bancos e são os mesmos que emitem a moeda. Essa super-emissão de moeda ficou mascarada pelo cenário - sempre tem um cenário -, o da crise do petróleo, que aquela liquidez era tão somente petrodólares. Então, eles ofereceram crédito e depois, em 79, os bancos que controlavam o Fed e que eram em grande parte os próprios credores da dívida externa, começaram a aumentar a taxa e chegou a 20,5%. Nós tínhamos uma situação em que o endividamento já estava alto e, em cima dele, taxas de 20,5% de juro em dólar... Equador, Brasil, a história de todos nós é idêntica. Até o Brady (Plano Brady, de 1994, de reestruturação da dívida externa de vários países). Década de 70, quase todos sob ditadura militar financiada também, e grande parte dessa dívida nós não conseguimos encontrar a contrapartida dos empréstimos pelo próprio financiamento da ditadura. Você assinava nota promissória e ficou reconhecido como dívida, financiando a ditadura militar. Lá no Equador, nós conseguimos comprovar tudo isso. ARAY NABUCO - Quer dizer que, se fizermos uma auditoria no Brasil, é provável encontrar uma história muito parecida com a do Equador?
_144/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Parecida não, idêntica. Aí, com o aumento da taxa, veio a crise de 1982, que justificou a entrada do FMI em 83, no Equador, na Argentina, no Brasil, em todo lugar. Entrada mesmo, para passar a monitorar a economia igual foi na Grécia em 2010, sempre com as recomendações, as cartas de intenções, que ele não assina. Aliás, o FMI não assina documento nenhum, nem contrato de empréstimo. O FMI deixa o dinheiro de stand by e o país assina uma nota promissória. Eles entram em 83 com todas aquelas medidas, e uma das coisas que o FMI exigiu foi que toda dívida da década de 70, seja ela pública ou privada, porque o setor privado, inclusive bancos, multinacionais, se aproveitaram daquela taxa barata e se endividaram muito também, fosse refinanciada. E exigiu juntar todos os devedores, e o devedor passaria a ser o Banco Central do Brasil. Lá no Equador, idem, Banco Central do Equador. Uma renegociação em 83, outra em 84, outra em 86 e outra em 88. O plano foi desenhado para ser assim. Tudo que venceu no ano de 83 juntou e passou a ser dívida do Banco Central, tudo que venceu em 84, outro acordo; 85, 86, 88 – eu falo 89 porque aqui no Brasil, nós identificamos que esse acordo de 88 foi assinado de verdade em 89, depois da Constituição promulgada, por isso, ele pode ser considerado nulo porque não passou pelo Congresso. Esses contratos são extremamente abusivos, são onerosos e são regidos pela lei de Nova Iorque, ou seja, as nossas constituições não valem nada. Então, em 1992, toda essa dívida com bancos prescreveu, porque todos esses contratos de 83, 84, 86 e 88 eram contratos leoninos, tinham uma determinada cláusula que dizia o seguinte: “Se alguma parcela da dívida deixar de ser paga, pode ser juros, pode ser amortização, qualquer coisa, provoca o vencimento de todas as parcelas vincendas”. E isso aconteceu. Aconteceu no Equador e aconteceu aqui no Brasil, porque com aquela taxa em tor-
Você fala: “A Maria Lucia me deve”. A primeira coisa que o juiz vai falar: “Me prove que você emprestou”. Não é assim? E qual era a prova que os bancos tinham de que emprestaram para o Banco Central? Por que o Banco Central era o devedor? Eles não entregaram um centavo para o Banco Central. Aqueles acordos de 83, 84, 86 e 88 foram meramente uma questão contábil. Lá no banco quem devia era o Aray, era a Maria Lucia e a Nina. no de 20%, os países deram conta em 1980 e 81. Em 82, veio a crise, essa confusão toda. Em 83, 84, 85, 86 não tinham como pagar mais. O que aconteceu? Todas as parcelas vincendas dessa dívida com banco foram trazidas para cá. Por isso que a década de 80 é considerada a década perdida, porque inviabilizou, amarrou totalmente a economia do país. O fato de o Banco Central ter assumido uma dívida sem ter tido contrapartida era para não receber esse dinheiro. Olha de novo o sistema da dívida aí. Teve que pagar o que nunca recebeu. O que nós encontramos no Equador? Em 92, passados seis anos, essa dívida prescreve, porque esses contratos eram regidos pelas leis de Nova Iorque e elas não têm um regulamento, são vários estatutos. Um desses se chama Estatuto de Liquidações. Vamos supor que eu te devo uma quantia, você tem seis anos para me cobrar administrativa e judicialmente. Se você não faz isso, depois de seis anos a Corte norte-americana não aceita nem processo para discutir o pagamento. Quer dizer, eu te devia, você não
procurou a Justiça para resolver isso, você foi negligente, morreu. E, nesse caso, aquela cláusula onerosa que trouxe tudo para cá, acabou se transformando no marco inicial para a contagem de seis anos. Ela prescreve e os bancos não acionaram judicialmente. E por que eles não acionaram? Porque em qualquer tribunal que eles entrassem, o primeiro documento que o juiz pediria é a prova da entrega. Você fala: “A Maria Lucia me deve”. A primeira coisa que o juiz vai falar: “Me prove que você emprestou”. Não é assim? E qual era a prova que os bancos tinham de que emprestaram para o Banco Central? Por que o Banco Central era o devedor? Eles não entregaram um centavo para o Banco Central. Aqueles acordos de 83, 84, 86 e 88 foram meramente uma questão contábil. Lá no banco, quem devia era o Aray, era a Maria Lucia e a Nina, e, de repente, limpa, limpa, limpa e quem deve é o Banco Central. Foi um ajuste na contabilidade do banco lá, porque os acordos foram todos feitos em Nova York, aqui ninguém sabia. Nem o Congresso Nacional sabia. Quem foi atrevido e descobriu esse esquema foi o Severo Gomes e, acho que não por acaso, ele foi morto naquele acidente com o Ulysses Guimarães. E foi justamente às vésperas da renúncia à prescrição. No Equador, nós encontramos o documento Renúncia à Prescrição da Dívida. Isso aí foi o maior escândalo, porque é um direito irrenunciável. Nem o presidente da República poderia ter renunciado à prescrição estabelecida na lei. ARAY NABUCO - O Brasil renunciou também? Aqui, nós não encontramos o documento de renúncia, mas encontramos várias referências a ele nessa época que precede a transformação de todos aqueles acordos nos chamados títulos do Plano Brady, e nesse documento está mencionado o documento de renúncia. Nós acreditamos que deve ter ocorrido, sim.
\145_
#09_ Maria Lucia Fattorelli
LÚCIA RODRIGUES - Quando você coloca o acidente do Severo, e a gente percebendo o que aconteceu na Grécia, como você viu o recuo do Tsípras frente à União Europeia e à Troika? Em primeiro lugar, com muita tristeza, porque é difícil conseguir construir todo o apoio que eles construíram lá. Tinha a imensa maioria no Congresso, no Parlamento e o apoio popular não só nas eleições como no referendo. E ainda tinham o respaldo da auditoria que mostrou que a Grécia não recebeu o dinheiro, que a Grécia foi usada, que aqueles contratos eram para beneficiar bancos. Claramente, ou aconteceu algum tipo de ameaça, ou ele se arrependeu. LÚCIA RODRIGUES - Por que o Brasil resolve adotar uma política de austeridade quando esta se provou um fracasso no resto da Europa? Porque o objetivo do nosso modelo econômico não é garantir uma vida digna para o brasileiro, não é buscar o pleno emprego, não é viver o que nós somos na realidade, porque nós somos, na realidade, um país abundante. O objetivo do modelo econômico é justamente criar e aprofundar o cenário que pega todo mundo. Se você sair perguntando por aí, tá todo mundo “é a crise, tem que fazer ajuste”. Quantas pessoas vocês acham que vão entrevistar que podem dizer: “O Brasil tem que emitir moeda, tem que injetar recurso na economia, tem que fazer investimento em educação”. Entendeu? Tem todo mundo naquela teoria da inflação que é uma teoria ditada pelo FMI. Esse regime de metas também é ditado pelo FMI, juros altos, que não servem para combater o tipo de inflação que nós temos aqui, de preço administrado, energia mais cara do mundo, telefonia mais cara do mundo, gasolina mais cara do mundo e alimento caríssimo por erros de política agrícola. Não é difícil sair disso. O que tem é primeiro convencer as pessoas do seguinte: a nossa realidade é outra. Nós temos que sair
_146/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O que tem é primeiro convencer as pessoas do seguinte: a nossa realidade é outra. Nós temos que sair desse cenário de miséria e de escassez. Nosso país é um país de abundância, por que vamos fazer sacrifício? E entender que os mecanismos foram criados para nos jogar nessa situação. Um dos principais é a dívida pública, que leva quase a metade dos recursos e cria dívida a partir de mecanismos meramente financeiros, como o mercado aberto, que não tem a ver com nenhum investimento do país, com geração de dívida para fazer reserva, esterilizar lá fora US$ 370 bilhões. Olha que disparate.
desse cenário de miséria e de escassez. Nosso país é um país de abundância, por que vamos fazer sacrifício? E entender que os mecanismos foram criados para nos jogar nessa situação. Um dos principais é a dívida pública, que leva quase a metade dos recursos e cria dívida a partir de mecanismos meramente financeiros, como o mercado aberto, que não tem a ver com nenhum investimento do país, com geração de dívida para fazer reserva, esterilizar lá fora US$ 370 bilhões. Olha que disparate. ARAY NABUCO - Temos o exemplo da Islândia, que já prendeu 27 banqueiros, financistas e investidores por causa da crise de 2008. Você acha que o Brasil chega a esse nível? Expulsou de lá o FMI e o Banco Mundial... O Brasil poderia chegar, porque tudo isso que a gente está conversando não teria a menor importância se não tivesse impacto social, parte da população vivendo na pobreza ou na miséria, e isso é inaceitável. E é uma questão urgente, porque essa crise que estamos vivendo é uma das crises mais infames que já tivemos, uma crise criada, provocada para gerar todo esse ambiente de caos. E, veja bem, os juros voltaram a subir, mas o orçamento é um só; este ano já foram contingenciados mais de 90 bilhões (de reais). Se tem que cortar tudo isso, como tem dinheiro para subir juro, se o dinheiro sai do mesmo orçamento? Então essa é a primeira contradição. A outra contradição é: nós estamos num ambiente de crise, desindustrialização, comércio em queda, salário em queda, desemprego, o PIB do país encolhendo e o lucro dos bancos aumentando? Se os bancos são um serviço que reflete a economia real, como pode? É evidente que está havendo uma transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado, tá na cara. E a engrenagem que possibilita essa transferência é o sistema da dívida, entendeu?
LÚCIA RODRIGUES - Compara Lava Jato frente à dívida. A Lava Jato é uma formiguinha no universo? Quando a gente visualiza como a dívida opera por meio de engrenagens, fica mais fácil entender. O primeiro modelo é o modelo econômico, concentração de renda, com as metas. As principais metas do nosso modelo econômico, as metas do sistema da dívida, são superávit, meta de inflação, que não combate a inflação, quer dizer, sobe juro, juro alimenta o sistema, restringe a base monetária, é outra peça do controle inflacionário, emite dívida para remunerar os bancos. Então essas três facetas do modelo econômico alimentam a dívida. No sistema legal – esse legal a gente devia botar entre aspas – muita coisa que está sendo feita aqui, como a transformação de juros em amortização, é para burlar a Constituição e emitir título para pagar juros, com umas normas meio enviesadas, que não garantem a legalidade total da coisa, mas, vão fazendo. A Constituição impede a emissão de títulos para pagar despesa corrente, e fazem uma burla. Isso é corrupção, usar operação de mercado aberto como desculpa para combater a inflação, quase um trilhão, isso para mim é corrupção. Swap, não é corrupção? Na minha opinião, é. Então, a corrupção é intrínseca ao sistema da dívida. O sistema político é financiado por quem está ganhando com esse esquema. Mas essas corrupções, Mensalão, Lava Jato, são importantíssimas para esse esquema. Sabe por quê? Como eles vão manter esse cenário de escassez? Eles têm que ter discursos. Se você sair perguntando para o povão: “Por que o Brasil não dá certo?”, ninguém vai te falar que é por causa do modelo tributário, do sistema da dívida, da política agrícola... Tem que ter cenário, porque senão todo mundo vai enxergar a realidade. A gente nunca fica sem um escândalo, já repararam isso? Quando está acabando um escândalo, vem outro na grande mídia. E os organismos internacionais apoiam tudo isso.
\147_
_148/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#10_ Maria Rita Kehl _
Maio de 2009
"A depressão cresce em nível epidêmico" Quando os debates em torno do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff estavam acalorados, a psicanalista Maria Rita Kehl declarou que o Brasil tornara-se um grande palco na luta de classes e que a única arma da esquerda para defender o Estado de direito era a informação. “Se a gente não conversar com eles, é a Globo que vai fazer isso”, alertou, em março de 2016, sobre o bombardeio do discurso dos grandes órgãos de imprensa de que o impedimento de Dilma seria a solução para todos os males do Brasil. Integrante da Comissão Nacional da Verdade, responsável por levar a psicanálise ao MST, autora da tese “O papel da Rede Globo e das novelas da Globo em domesticar o Brasil durante a ditadura militar”, no final dos anos 70, Maria Rita considera fundamental o trabalho da militância neste momento da política: “É muito importante ganhar aqueles que estão mal informados, que leem o Estadão e veem o Jornal Nacional.” A mesma defesa da importância da informação sobre os rumos do País fez em outubro de 2010, em artigo que lhe custou a demissão do jornal O Estado de S. Paulo. “Quando, pela primeira vez, os sem-cidadania conquistaram direitos mínimos que desejam preservar pela via democrática, parte dos cidadãos que se consideram classe A vem a público desqualificar a seriedade de seus votos”, escreveu um dia antes da eleição em que Dilma venceria José Serra (PSDB).
Maria Rita Kehl nasceu em Campinas em 10 de dezembro de 1951. Psicóloga pela USP, trabalhou também como jornalista – entre outros, foi editora do Movimento, jornal alternativo ligado à esquerda nos anos 70. Foi premiada com o Jabuti em 2010 pelo livro O Tempo e o Cão – Atualidade das Depressões. Neste mesmo ano, recebeu prêmio do governo federal na categoria Mídia e Direitos Humanos e, em 2013, foi reconhecida por seu capítulo sobre camponeses e indígenas no relatório da Comissão da Nacional da Verdade. ENTREVISTADORES Ana Maria Straube Camila Martins Hamilton Octavio de Souza Luana Schabib Tatiana Merlino
Como psicanalista, faz uma análise crítica e um alerta sobre a grande epidemia da depressão, para ela, sintoma de uma sociedade que cria o “sujeito esvaziado” e revela uma realidade coletiva, a inversão dos sentidos diante da necessidade de uma felicidade constante alimentada pelo consumo.
\149_
#10_ Maria Rita Kehl
TATIANA MERLINO - Qual sua origem, e como você entrou para a psicanálise? Nasci na cidade de Campinas, aqui do lado, apesar de me considerar paulistana. Todos os filhos são de Campinas, mas fomos criados aqui. Passei a vida inteira no bairro de Pinheiros. Estudei em uns colégios de freiras. Minha mãe era religiosa. Depois fiz psicologia na USP, entre 1971 e 1975, no período mais fechado da universidade, com muita gente cassada. Então, muito insatisfeita com o curso, lá pelo terceiro ano eu queria trabalhar, sair de casa. Bati na porta do Jornal do Bairro, cujo diretor era Raduan Nassar, que ainda não era o grande escritor, e falei: “Eu quero escrever”. Eu queria trabalhar em alguma coisa que não fosse psicologia, que me parecia na época uma coisa muito xarope. E aí o editor, José Carlos Abbate, e o Raduan foram muito generosos, do tipo: “Bom, você sabe escrever, mas não sabe o que é jornalismo. Escreve trabalho de escola”. E eles falavam: “Vai assistir tal filme”. Aí me ensinaram o que é um abre de uma matéria, enfim, que não pode ter cara de trabalho escolar. E eu virei jornalista freelancer. Em seguida, veio a lei que exigia registro. Foi muito formadora para mim a época dos jornais alternativos, dos tabloides, foi o único lugar em que eu pude ser contratada numa redação, porque eles já estavam totalmente irregulares mesmo, então eles contratavam gente que era de movimentos. Foram três anos, de 75 a 78 no máximo, mas foi muito marcante, muito formador, porque foi o período que eu pude alargar esse horizonte de uma faculdade de psicologia, numa formação um pouco medíocre numa época em que estava todo mundo com medo, mesmo porque eu nunca entrei para a luta armada nem nada. Mas as coisas que me acontecem hoje eu devo muito a esse período. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - O Jornal do Bairro?
_150/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Não. Ele foi uma iniciação para eu aprender a escrever, não era jornal de esquerda. Mas era muito legal, porque era um jornal muito engraçado. Ele era a capa, com artigos de política, e a contracapa, com artigos de cultura, e o resto eram anúncios. E todos os artigos eram escritos em 40 linhas. Em 40 linhas você aprende a pegar o fundamental, você não precisa entender do assunto, você junta umas ideias, faz um texto razoável, agradável, põe uma abertura chamativa, um final retumbante e ponto. Quarenta linhas são o meu forte, digamos assim. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - Você colaborou com aqueles jornais feministas da época? No Mulherio. Recebi a notícia que esse jornal ia começar e eu era levemente atraída pela esquerda. Eu não tinha formação política. No começo, nas reuniões de pauta, tinha que disfarçar a minha ignorância. Como eu era disponível, eles precisavam de gente que pudesse ganhar pouco e de gente que eles pudessem fazer a cabeça. Porque eles não podiam tentar, aí na época era o Movimento do PCdoB mesmo, eu nem sabia o que era PCdoB. Eu sabia que era um jornal de oposição à ditadura e isso me interessou. Em um ano, eu era editora de cultura, mas você tem que ir na raça. Não tem quem faça, você faz. Então, foi muito legal. CAMILA MARTINS - E lá você foi também desenvolvendo essa formação? É, e nunca mais parou, porque isso é uma coisa que não para, não vou dizer que seja uma formação, é uma trajetória. Talvez eu tenha descoberto uma coisa que tinha mais a ver comigo e eu estava fora disso. Engraçado que depois de mim, os meus irmãos, a minha família é razoavelmente de esquerda. Meu pai não era, mas ele morreu dizendo: “Na próxima eleição eu vou votar no Lula”. Ele morreu em 2000. Uma família um pouco inconvencional,
O editor, José Carlos Abbate, e o Raduan foram muito generosos, do tipo: “Bom, você sabe escrever, mas não sabe o que é jornalismo. Escreve trabalho de escola”. E eles falavam: “Vai assistir tal filme”. Aí me ensinaram o que é um abre de uma matéria, enfim, que não pode ter cara de trabalho escolar. E eu virei jornalista freelancer. Em seguida, veio a lei que exigia registro. Foi muito formadora para mim a época dos jornais alternativos, dos tabloides, foi o único lugar em que eu pude ser contratada numa redação, porque eles já estavam totalmente irregulares mesmo, então eles contratavam gente que era de movimentos. Foram três anos, de 75 a 78 no máximo, mas foi muito marcante, muito formador, porque foi o período que eu pude alargar esse horizonte de uma faculdade de psicologia.
sempre foi um pouco gauche. Então, o esquerdismo caiu bem para todo mundo quando a gente começou a se abrir, para todo mundo fez sentido. Então, eu fiquei uns sete anos só como jornalista. Teve um momento que eu fiquei um pouco insatisfeita. Fui virando freelancer para poder sobreviver. Folha, Veja, Isto É. Mas eu cobria várias coisas da área de cultura. E senti que eu não sabia nada com muita consistência. Aí fui fazer um mestrado uns quatro anos depois de formada e sobre televisão, pois, por causa da minha prática em jornalismo cultural, falei: "Ninguém está percebendo o que a televisão está fazendo no Brasil". Na época, a única pessoa que escrevia sobre televisão era a Helena Silveira, que comentava as novelas, falava dos figurinos. E só depois que fiz a tese é que eu fui perceber que podia ser psicanalista. Na verdade, é uma coisa ruim de contar hoje porque não é uma coisa que os psicanalistas respeitam. Mas foi no trambolhão. Tinha meu filho pequeno; o pai do meu filho morava em uma comunidade, eu morava em outra. Eu já morava há um bom tempo. Era uma casa que caiu, uma casa genial, daquelas antigas na rua Matheus Grou, que você entra e tem um porão aqui, e sobe uma escada, tem um corredor, a cozinha é lá no fundo, o banheiro é depois da cozinha. Morei em várias comunidades, mas essa foi a mais marcante, tinha uns refugiados que vinham morar com a gente, era uma delícia, meu filho nasceu aí. Eu saía e deixava o pessoal tomando conta, era muito legal. Então, eu tive uma bolsa da Fapesp, que era muito boa porque eu podia fazer a minha tese e ficar bastante com o Luan, meu filho. E, no mesmo ano, a comunidade terminou, cada um foi morar numa casinha. A bolsa terminou e eu tinha que fazer alguma coisa, com filho para sustentar. Tive um trabalho rapidinho na Rádio Mulher, me chamaram para fazer um programa que era de entrevistas ao vivo, e as mulheres
\151_
#10_ Maria Rita Kehl
ligavam e a gente dava respostas, era muito divertido. O programa acabou também. E abri consultório no dia seguinte. Uma menina da rádio me pediu terapia e, no dia seguinte, sem nada, sem nenhum preparo, eu estava fazendo o consultório. Foi em 1981. Desde lá, sou psicanalista, nunca mais larguei. Aí foi fazendo cada vez mais sentido. Até hoje cada vez mais eu me espanto com isso. ANA MARIA STRAUBE - E sua tese de televisão já tinha alguma coisa a ver com psicanálise? Nada, nada. Claro que, se você faz psicologia, lê algumas coisas, você tem um pouco de abertura para entender com objetividade. A minha tese era “O papel da Rede Globo e das novelas da Globo em domesticar o Brasil durante a ditadura militar”. Pegava desde a primeira novela, foi de 73, as novelas das 8, desde Irmãos Coragem até na época, que era Dancing Days, mostrando como se criou um retrato, uma imagem do Brasil para si mesmo. A brincadeira na época era assim: a única coisa que os militares conseguiram modernizar durante 20 anos de ditadura foi a imagem televisiva que o Brasil apresentava para o próprio Brasil, que é o que o Brasil acreditou. E a minha tese era mais ou menos isso. CAMILA MARTINS - Você viveu essa questão da mulher nos anos 70, da luta feminina? Olha, eu fui muito pouco feminista. Falo isso até com um pouco de sentimento de culpa de não ter prestado atenção em uma coisa importante. Por exemplo, a minha contemporânea na USP era Raquel Moreno, que é uma feminista importante, militante desde o começo. Eu achava aquilo uma chatice, eu não queria ir naquelas coisas, achava que eu não era oprimida, que eu me virava muito bem, que eu não tinha esse problema. Talvez porque eu estivesse achando a minha vida com os homens muito
_152/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Não me acho uma feminista de bandeira, porque pelo menos na minha geração tinha uma bandeira feminista que até hoje eu não embarco, que é “mulher e homem é igual”. Acho que isso criou um ambiente meio belicoso, brigar assim por mesquinharia: eu lavei dez pratos, você tem que lavar dez, não posso lavar onze e você lavar nove. divertida. Depois que eu tive filho é que, embora fosse tudo muito libertário, quem carregou o piano sozinha fui eu. Aí eu falei: “Opa! Negócio de feminismo, pelo menos para a mulher que tem filho, faz sentido. Não dá para dizer que eu estou livre disso, não”. E eu, não sei, não me acho uma feminista de bandeira, porque pelo menos na minha geração tinha uma bandeira feminista que até hoje eu não embarco, que é “mulher e homem é igual”. Acho que isso criou um ambiente meio belicoso, não que eu não brigue com os homens, mas brigar assim por mesquinharia: eu lavei dez pratos, você tem que lavar dez, não posso lavar onze e você lavar nove. Eu morava em comunidade. Cada um tinha um dia para fazer supermercado, para lavar, e claro que a gente brigava porque sempre tinha um cara que folgava. No jornalismo, por exemplo, olha como as coisas são contraditórias. Na época, por ser mulher, acho que tive uma chance que, se eu fosse um rapaz, não teria, de entrar numa redação, onde só tinha homem. Hoje em dia, ninguém te olha se você é mulher ou não porque está tudo igual hoje. Só tinha homem, eu entrei e falei: “Não sou jornalista, mas quero escrever”. E veio um cara legal me ensinar, entendeu? Como isso iria acontecer se eu fosse rapaz?
TATIANA MERLINO - Como surgiu a ideia do livro Tempo e o Cão? Quando a gente está muito perto de uma escrita, é difícil ter claro o porquê escreveu. Mas eu tive no meu consultório duas ocorrências de suicídio nos anos 80, quando eu era ainda novata. Interessante que nenhum dos dois era deprimido, no sentido daquela pessoa que se suicida porque está no fundo do poço. Era mais uma coisa persecutória, não era por depressão. Mas fiquei com muito medo de tornar a atender pacientes muito deprimidos, que vinham já dizendo que eram deprimidos. Precisei de muito tempo para entender o que eu não tinha escutado. Um não deu nem tempo, porque ele fez pouquíssimas sessões e foi demitido. O pior da demissão é que ele perderia o seguro que dava direito de continuar a psicanálise. É claro que eu continuaria atendendo, mas ele ficou muito desesperado. Ele tinha feito, sei lá, um mês. Mas o outro era meu paciente de alguns anos, tinha interrompido e, nessa interrupção se suicidou. Então, fiquei muito culpada, como todo analista fica. Não dá para dizer que a culpa é toda sua e não dá para dizer também que você não tem nada a ver com isso. Então, eu ia encaminhando as pessoas deprimidas que sempre chegam. De uns anos para cá, fui amadurecendo e comecei a atender pessoas deprimidas, e comecei a ficar interessadíssima no fato de como elas eram sensíveis à análise, como tinham permeabilidade maior ao inconsciente que o neurótico, que, vamos dizer, está bem defendido, que vai para a análise também, mas é um custo para abrir uma brecha. Então, primeiro isso, eu comecei a escutar os depressivos e comecei a falar: “Há uma riqueza de saber, tem uma coisa muito interessante, que eu gostaria de um dia poder escrever”. E depois teve esse incidente, que está escrito também na introdu-
ção do livro, que foi justamente a caminho da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, onde eu atendo pacientes, no livro eu não pus isso. Na Dutra, que é uma estrada pesada, eu atropelei um cachorro. E essa cena, não vou dizer que foi traumática, mas exigiu reflexão, porque foi uma coisa muito rara. O cachorro estava na beira da estrada, tinha movimento e ele começou a atravessar como se estivesse em um campo. Cachorro de beira de estrada deveria estar acostumado. Não é que ele tentou e veio um carro rápido e ele não viu. Ele começou a atravessar e eu vi que ele estava atravessando, vi que ele ia ser atropelado, mas não podia desviar, porque tinha um carro do lado, e eu não podia frear. Você não pode frear na via Dutra. Eu ia morrer, enfim, não podia frear. Então eu tive essa enorme agonia de perceber que estava em uma velocidade irreversível e que ia matar um animal, um ser. Passar por cima. E consegui desviar muito pouco, diminuí a velocidade muito pouco, de modo que só peguei ele com a roda. Consegui não passar por cima. Eu dei um tempinho para ele. E o mais chocante foi que, quando tentei ver o que aconteceu com ele, olhei e ele já virou uma figura no retrovisor. Só percebi que ele estava uivando de dor porque vi o uivo dele no espelho, porque eu já não ouvia mais e ele atravessou a estrada mancando e sumiu no mato e desaconteceu. E esse acontecimento teria desacontecido, eu não sofri nada, se eu não ficasse tão chocada com o que a velocidade faz com os acontecimentos da vida. Não só pelo cachorro, o atropelamento é mais uma metáfora, porque atravessou a outra pista mancando e não morreu. Eu comecei a me dar conta de quantos acontecimentos na minha vida, nessa velocidade, não aconteceram, viraram desacontecimentos. Quando cheguei na escola, fui olhar o parachoque e tinha uma sujeirinha, talvez o pelo dele. E tinha um ligeiro amassadinho. Aí entra a associação.
\153_
#10_ Maria Rita Kehl
Eu estava lendo Walter Benjamin, por causa de um grupo de estudos, estava lendo o texto dele sobre experiência. Ele faz uma articulação entre a perda da experiência e a velocidade da vida moderna. E eu falei: “A depressão está aqui”. Porque Walter Benjamin chama isso de melancolia, não é também que eu inventei isso, então são duas coisas diferentes que se juntaram. A depressão como o começo de uma experiência no consultório que me interessou muito e a depressão como um sintoma social, quer dizer, algo que se alastra, sintoma social no sentido de um tipo de sofrimento mental que, além de dizer respeito ao sujeito, a cada um por si que está sofrendo, cada um com suas razões, revela alguma coisa que não vai bem. Não se poderia dizer que é o sintoma social do homem contemporâneo, porque drogadição também é um sintoma, violência também é um sintoma. Mas, certamente, depressão é um dos importantes sintomas. Porque, digamos, ele faz água no barco. Tem um barco, que é a sociedade de consumo, que as pessoas supostamente navegam, às vezes achando que a vida vai ter sentido porque você pode ter dinheiro e comprar não sei o quê. Todo mundo fala: “Que sociedade de consumo? Brasil? Menos de um terço pode consumir o básico”. E eu insisto que essa sociedade é de consumo, nos termos mesmos dos autores, do Jean Baudrillard, aliado à ideia de Guy Débord da sociedade do espetáculo, porque o que dá sentido à vida é o consumo. A questão não é a sociedade de consumo porque todo mundo está consumindo furiosamente, pouca gente está consumindo furiosamente, mas as pessoas medem o que elas são pelo que elas podem consumir, medem o sentido da sua vida pelo que elas podem consumir. Estão convencidas de que o valor delas e das outras se define pelo que elas podem consumir. Por isso sociedade de consumo, pela crença, não necessariamente pelos atos. Então, voltando ao
_154/
18 entrevistas _ revista caros amigos
porquê a depressão é sintoma social. Porque a sociedade, em termos dos discursos dominantes nos quais a gente acredita, deveria ser uma sociedade menos depressiva. Dos anos 60 para cá, nós somos mais livres, nós podemos fazer mais sexo, nós podemos desfrutar do corpo e da saúde de uma maneira privilegiada. Tem mais opções de lazer e de festas, encontrar sua tribo para não ficar necessariamente submetido a um padrão só de comportamento. E tem um avanço enorme no desenvolvimento de antidepressivos, então essa sociedade não deveria ser mais deprimida, a não ser os casos patológicos raros de porque um dia o pai estuprou a irmã na frente dele, essas coisas mais horrorosas. Não deveria ter mais depressivos. E os dados da Organização Mundial da Saúde são de que a depressão cresce em nível epidêmico nos países industrializados e que, em 2020, se eu não me engano, será a segunda maior causa de comorbidade, não de morte diretamente, mas de comorbidade do mundo ocidental. Então, é o sintoma social, está mostrando que esse negócio não funciona. TATIANA MERLINO - Então, o aumento do mercado de antidepressivos não resulta numa diminuição dos casos de depressão? O antidepressivo, embora seja em muitos casos importante, vital até, não quero aqui falar contra os avanços da indústria farmacêutica, embora o antidepressivo às vezes salve vidas, deve ser tomado por pessoas que correm risco até de se matar ou então de morrer por não dizer, não conseguem nem ir a um consultório de analista. O antidepressivo não cura, ele ajuda o depressivo a ter energia e ânimo para fazer algumas coisas e aí ele tem que se tratar. CAMILA MARTINS - Você diz, então, que a depressão faz parte da sociedade contemporânea. Mas é muito comum a gente escutar: “O
quê, a menina está com depressão? Parece que não trabalha, que não estuda, só quem é desocupado é que tem tempo de ter depressão”. LUANA SCHABIB - Ao mesmo tempo, tem gente que qualquer coisa fala: “Puxa, tô deprimido”. Exatamente, tem os dois lados. Tem o lado talvez mais conservador e, principalmente com os jovens, “isso é frescura, vai trabalhar”. Mas eu acho que o lado que a Luana falou, hoje é predominante, porque qual é a estratégia dos laboratórios? Às vezes, eu brinco e falo assim: “Quem vai salvar o capitalismo da crise é a indústria farmacêutica porque, quanto mais crise mais remédios eles vão vender”. Entendeu? Qual é a estratégia dos laboratórios farmacêuticos? Não é mais somente divulgar os remédios. Saiu o Prozac, na época foi divulgadíssimo, foi o primeiro grande antidepressivo genérico que as pessoas tomavam. Hoje, tem muita gente da geração 20 anos do Prozac que vem para o consultório dizendo: “Tomei um tempão, foi ótimo, fiquei muito alegre. Depois fiquei simplesmente indiferente e agora não aguento mais não sentir nada. E vou fazer análise”. Mas, enfim, hoje, a principal estratégia de marketing é divulgar a doença. Que por um lado poderia ser um trabalho importante de saúde pública, dizer para as pessoas como é a Aids, cuidado, se previna. Agora, nas doenças mentais, a popularização da doença ajuda você a se identificar com ela. Se você faz uma campanha contra o câncer de mama, tudo bem, todas as mulheres podem falar: “Ai, meu Deus do céu, será que eu tenho isso?”. Aí você vai ao médico e faz uma mamografia e, se tem, tem; se não tem, não tem. Não dá para você achar que tem só porque houve uma divulgação maior, preventiva. Agora, na depressão, todos os ambulatórios no Brasil têm esse folhetinho: “Você tem depressão? Atenção, é uma doença séria, mas tem cura”. Aí, se você tem alguns
a sociedade, em termos dos discursos dominantes nos quais a gente acredita, deveria ser uma sociedade menos depressiva. Dos anos 60 para cá, nós somos mais livres, nós podemos fazer mais sexo, nós podemos desfrutar do corpo e da saúde de uma maneira privilegiada. Tem mais opções de lazer e de festas, encontrar sua tribo para não ficar necessariamente submetido a um padrão só de comportamento. E tem um avanço enorme no desenvolvimento de antidepressivos, então essa sociedade não deveria ser mais deprimida, a não ser os casos patológicos raros de porque um dia o pai estuprou a irmã na frente dele, essas coisas mais horrorosas.
\155_
#10_ Maria Rita Kehl
sintomas... Tem uma lista de 20 sintomas que qualquer um de nós tem alguns deles. Falta de sono, excesso de sono, falta de fome, excesso de fome, desânimo, irritabilidade. Bom, em São Paulo, quem é que não tem irritabilidade, estresse, por aí vai? O importante é que, no caso das depressões, numa sociedade em que a moral social é a moral da alegria, do gozo, da farra. Não é a moral até a primeira fase do capitalismo, que até os anos 1950, e isso combinou também com o protestantismo, era a moral do adiamento da gratificação, sacrifício, esforço, sobriedade, tudo que a gente conhece hoje em dia de literatura. É a moral que mudou muito rapidamente depois dos anos 60, não por culpa dos movimentos dos anos 60, mas pela tremenda plasticidade do capitalismo, do boi eu aproveito até o berro, do homem eu aproveito até o berro, derramo o que não queremos, o que queremos é sexo livre, independência. E o sistema fala “oba, vamos devolver isso na forma de mercadoria”. E hoje nós nos beneficiamos, mas também a sociedade de consumo bombou depois dos anos 60. Então, numa sociedade como essa, em que você moralmente se sente obrigado a estar sempre muito bem, qualquer tristeza você identifica como depressão. Então tem aí muitas dessas famílias que dizem que isso é frescura, que não é depressão, mas eu acho que é minoria. A maioria é assim: o filho está mal-educado, toma remédio, porque é hiperatividade, toma remédio; o filho está numa crise adolescente, deprimido, toma remédio. É a mesma lógica, digamos assim, imaginária que rege o capitalismo financeiro: jogue certo que você vai estar rico a vida inteira, acabaram os seus problemas, acumule um monte, faça a jogada, e não é para ter turbulência, que as turbulências são deficiências, perdas de tempo, porque tempo é dinheiro; afinal de contas, então, remédio, remédio. E qual a re-
_156/
18 entrevistas _ revista caros amigos
lação disso com a depressão? Você vai criando um sujeito esvaziado. Mas o remédio não é a cura, é só a condição para a pessoa ir se tratar. Então, o que é a força psíquica, a chamada vida interior? É trabalho permanente, desde o bebezinho ali que a mãe não chegou na hora, ele estava com fome e teve que esperar um pouquinho. O psiquismo é isso, trabalho para enfrentar a dificuldade, enfrentar conflitos, suportar crises, suportar desprazer em momentos, porque não dá para ter prazer o tempo todo, isso é psiquismo. A ansiedade diz: “Não enfrenta conflitos, não enfrenta porque você vai ficar um tempo meio confuso, meio improdutivo, toma o remédio e vai em frente”. Vai se criando uma vida sem sentido. Como é estar realmente deprimido? Porque tem alguns casos de depressão que são diferentes do que eram os casos de depressão da minha bisavó ou do meu tataravô. Hoje, uma pessoa deprimida, além de sentir todo o sofrimento da depressão, a sensação de vazio, de que a vida não vale a pena, de que ele mesmo, ou ela mesma, não vale nada, de que o tempo não passa, que os dias estão estagnados e insuportavelmente lentos, enfim, falta de vontade de viver basicamente, tudo isso que já é sofrimento suficiente para um depressivo, recebe um acréscimo da culpa de estar deprimido. Aí faz parte do que você falou, não é só que eu estou passando por tudo isso e tudo isso é uma dureza e preciso de uma ajuda. Eu estou passando por tudo isso, então eu sou pior do que os outros. Eu já me sinto ruim porque estou deprimido e agora estou me sentindo ruim porque eu sou quase que culpado, é quase como se fosse um fora da lei. Hoje, um deprimido se sente culpado por não querer ir para as festas. Na adolescência, isso é tremendo, os adolescentes, que é a idade de ouro na sociedade de consumo, os adolescentes são o outdoor da sociedade
A maioria é assim: o filho está mal-educado, toma remédio, porque é hiperatividade, toma remédio; o filho está numa crise adolescente, deprimido, toma remédio. É a mesma lógica, digamos assim, imaginária que rege o capitalismo financeiro: jogue certo que você vai estar rico a vida inteira, acabaram os seus problemas, acumule um monte, faça a jogada, e não é para ter turbulência, que as turbulências são deficiências, perdas de tempo, porque tempo é dinheiro; afinal de contas, então, remédio, remédio. E qual a relação disso com a depressão? Você vai criando um sujeito esvaziado. Mas o remédio não é a cura, é só a condição para a pessoa ir se tratar.
de consumo, eles aparecem como nossos representantes, já que são mais livres, não têm filhos, teoricamente os de classe média são sustentados, não têm que trabalhar, eles são os mais convidados para essa festa perpétua que não existe, mas que aparece no horizonte social. O adolescente em crise, hoje, ele se sente o último. HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA - O modelo atual coloca que você não tem emprego porque você não se preparou, você que não é capaz. O problema não é do sistema, o problema é seu. Isso começou a ficar mais claro para mim quando comecei a atender os pacientes no MST, na Escola Nacional Florestan Fernandes, onde fui uma vez fazer uma conferência em 2006. Fui falar de televisão, justamente o que foi a minha tese. E eles me perguntavam de psicanálise na aula. E eu dizia: “Olha, dá para ter atendimento aqui”. Mas ninguém me procurava para isso, eu já tinha oferecido. E, um dia, me perguntaram de novo como a psicanálise podia ajudar a militância, e eu falei: “Olha, a psicanálise não é uma teoria militante. Pela psicanálise, eu creio que não vai sair nenhuma militância psicanalítica”. Mas, aí eu brinquei com eles: “Tem muito neurótico militando e os neuróticos atrapalham a militância, misturam seus problemas pessoais com os problemas da militância, o que embola o meio de campo. Então, o que a psicanálise pode fazer é tratar as pessoas e, se ajudar a militância, o cara fica menos louco e daí milita melhor”. Eu saí da sala e tinha duas pessoas da direção me esperando: “Quando você pode começar?”. ANA MARIA STRAUBE - Interessante, porque a psicanálise parte de uma perspectiva mais individual. E, no MST, acho que tem uma coisa de buscar soluções coletivas para as coisas.
\157_
#10_ Maria Rita Kehl
Então, isso é genial, porque eu achava que alienação neurótica era uma coisa e alienação política era outra, e uma não interfere na outra. Reformulei o que eu pensava. Uma parte da alienação neurótica é alienação política, porque lá o cara, as pessoas que vão lá sofrem pelos motivos que os neuróticos sofrem. Não interessa nem contar detalhes, porque é contar o detalhe de qualquer outra clínica, mas qual é o grande diferencial? Esse a mais de culpa, de baixa estima, do indivíduo que se acha ele próprio obrigado a dar conta da vida dele e de passar na frente de todo mundo. Ele já tem, nos 25 anos do MST, uma formação que não é só política, não é só cartilha, é formação humana, isso é que me impressiona. É consistente. Você ouve um paciente três anos seguidos, e você fala: “Não é só cartilha”. É formação humana. Eles distinguem o que é o problema deles do que é a sua situação de classe. Claro que não estou falando de pessoas superdotadas, mas eles distinguem. As mulheres, eu nunca vi um feminismo tão profundo, mais verdadeiro do que eu vi nas mulheres do MST, porque não é feminismo anti-homem, não é feminismo masculinizado, é uma coisa tão profundamente libertária. Elas são cientes de que têm o valor delas como mulher, que elas não vão atrelar a vida delas, de estilo de militância, a um homem, a não ser que o caminho coincida. É muito impressionante. Porque o que mais tem na clínica psicanalítica das cidades? Qual é a questão mais banal? Não estou banalizando os meus clientes, estou falando que tem uma questão que é banal: me ama ou não me ama, papai gostou de mim, mamãe não gostou de mim, um gostou muito, outro gostou menos, eu era o predileto, meu irmão que era predileto, gostava de mim, não gostava de mim, meu namorado gosta ou não gosta, não tenho um homem então sou uma porcaria porque
_158/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu nunca vi um feminismo tão profundo, mais verdadeiro do que eu vi nas mulheres do MST, porque não é feminismo anti-homem, não é feminismo masculinizado, é uma coisa tão profundamente libertária. Elas são cientes de que têm o valor delas como mulher, que elas não vão atrelar a vida delas, de estilo de militância, a um homem, a não ser que o caminho coincida. É muito impressionante. Porque o que mais tem na clínica psicanalítica das cidades? Qual é a questão mais banal? Não estou banalizando os meus clientes, estou falando que tem uma questão que é banal: me ama ou não me ama, papai gostou de mim, mamãe não gostou de mim, um gostou muito, outro gostou menos, eu era o predileto, meu irmão que era predileto, não tenho um homem então sou uma porcaria porque não tenho homem, não tenho mulher. Isso aí eu nunca ouvi lá, em três anos e pouco já.
não tenho homem, não tenho mulher. Isso aí eu nunca ouvi lá, em três anos e pouco já. O valor do sujeito não está atrelado a se o outro gosta dele ou não, é muito impressionante, o valor está ligado à militância. E ao mesmo tempo não está ligado à militância. É claro que alguns sofrem de uma coisa assim: “Eu sou herói mais do que todo mundo”. Mas também tem essa ideia de que o que você é, você é coletivamente. E é fácil dizer isso porque não preciso nem contar dos meus pacientes. Eu posso contar, por exemplo, de um rapaz com quem eu conversei 15 minutos. Eu estava na porta do consultório esperando um paciente que estava atrasado e tinha um rapaz, que eu nunca tinha visto, sei lá, é que tem muitos cursos, então uns ficam uma semana, alguns ficam um mês, tinha um rapaz paraibano que puxou conversa comigo, queria saber quem eu era, comecei a contar, e aí ele me disse: “Ah! Então você vai na reunião da direção?”. Me perguntou se eu ia para alguma coisa grande lá e eu falei: “Não, eu aqui sou peixe pequeno”. E ele falou: “Não existe peixe pequeno”. E eu falei: “Não, eu quero dizer que o que eu faço aqui é secundário”. “Não existe tarefa secundária”. Ele foi me interpretando. “Companheira, ou somos iguais ou não somos iguais. Se somos iguais, você pode trabalhar lá nas privadas que o seu trabalho é tão importante quanto o de um dirigente”. Claro que isso não é tão perfeitinho assim, porque tem aqueles que se acham o máximo, principalmente os escalões intermediários. O Stedile não. Claro que tem gente que gosta do poder. Bom, isso é do humano, mas o que o rapaz falou bate e pronto, e isso é muito profundo. Na festa de Sarandi, eu fiquei muito impressionada, porque foi uma festa enorme, tinha duas mil e quinhentas pessoas, três mil, barbaridade assim. Nada terceirizado, evidentemente, não tinha uma companhia
que oferecia churrasquinhos, tudo era feito por eles, e todos faziam tudinho. As brigadas são fantásticas, mas o que aquilo funcionou era impressionante. E daí você pensa: “Não, então eles são uma coisa militar?”. Porque quando eu conto para algumas pessoas que têm a perspectiva da sociedade do oba-oba, dizem: “Então é militar?”. Não. Aí tem o baile no fim do dia que é para acabar à meia-noite, porque no dia seguinte a coisa começa cedo, e acaba às três da manhã e o pessoal bebe. No dia seguinte, está todo mundo trabalhando às oito. Aguenta a sua ressaca. Mas não é repressivo nesse sentido. Por outro lado, tinha barraca de bebidas, teve uma cerimônia de premiação longuíssima, porque tudo lá é cerimonial, cerimônia longuíssima, e pediram para a barraca de bebida não vender bebida durante a premiação, para não misturar uma coisa com a outra, daí sim. E pediram para os participantes que não estavam dentro do auditório não começarem a comer o lanche que já estava servido. E uma hora eu, ingenuamente, saí do auditório, estava morrendo de fome, eram dez da noite já, o almoço tinha sido ao meio-dia, passei na barraca e peguei um negocinho, na barraca não, nas mesas. Quando olhei, estava todo mundo olhando parado. Aí fui na barraca de cerveja e pedi uma água, e os meninos falaram: “É, a gente agora só vende água”. E eu falei: “Por quê? Acabou a cerveja?”. “Não, pediram para não beber cerveja enquanto está a cerimônia”. Então tem um comprometimento de todos com o bom funcionamento da coisa. Com evidentes exceções. Uma pessoa teve o celular roubado, paraíso não existe, mas pensando no funcionamento coletivo, em que as pessoas... a sensação de confiar. Confiar eu não estou falando confiar no marido, no irmão, acho que, quando você está entre estranhos, confiar é uma coisa muito boa.
\159_
_160/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#11_ Marilena Chaui _
Agosto de 1999
“Todo mundo tem que viver uma grande paixão e uma possibilidade de revolução” No dia 29 de março de 2016, a filósofa Marilena Chauí saiu mais uma vez em defesa da democracia na Universidade de São Paulo (USP). Ela, que, em gravidez avançada, esteve nas fileiras da Maria Antônia durante o golpe militar de 1964, tomou a palavra 52 anos depois para alertar sobre as consequências desastrosas ao país de outro golpe, desta vez contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Defendido, inclusive, por pessoas que estavam ao seu lado neste mesmo dia de resistência na década de 60. Uma delas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), sobre o qual já havia dito ter descoberto estar “do outro lado” em entrevista explosiva à Caros Amigos em agosto de 1999, e que, em vídeo divulgado no emblemático 31 de março, disse “não restar outro caminho” a não ser o impeachment. Não era esta a crença de Marilena, que já se declarou uma privilegiada por ter acompanhado de perto o nascimento de “uma proposta de esquerda feita pelos próprios trabalhadores” no ABC dos anos 80, movimento que culminaria na fundação do PT. Dias antes, criticara e defendera os mesmos pontos no Ato pela Legalidade Democrática no Teatro Tuca, outro palco de manifestações nos anos de ditadura. A professora enxerga no impedimento um atalho para a entrega do pré-sal a companhias norte-americanas e para o enfraquecimento do Mercosul.
Marilena de Souza Chauí nasceu em 4 de setembro de 1941 em São Paulo. Filha de um jornalista e uma professora, chegou à filosofia, segundo ela própria, por questões existenciais, pelo dilema cristão liberdade/ pecado e pela descoberta, ainda durante o ensino secundário, de poder "se dar ao próprio pensamento". Participou do Maio de 68 na França, onde fazia doutorado. Uma das fundadoras do PT, foi secretária de Cultura de São Paulo de 1989 a 1992, no governo da então petista e hoje PSol Luiza Erundina. ENTREVISTADORES Marina Amaral Laís da Costa Manso José Arbex Jr. Sérgio Pinto de Almeida Wagner Nabuco Francisco Alembert
Disse que o ressentimento e o ódio são os motores daqueles que foram às ruas contra o governo Dilma e que não basta apenas gritar “não vai ter golpe” nas ruas, mas lutar “dentro das instituições políticas e judiciais” pela democracia.
\161_
#11_ Marlena Chaui
MARINA AMARAL - Costumamos começar a entrevista pedindo para a pessoa falar um pouco de si, de sua trajetória. Eu vim para a Filosofia pelas razões que nos traziam a ela antes dos anos 60 e nos fazem voltar a ela a partir dos anos 80, depois dos intervalos dos anos 60 e 70, em que se vinha por razões claramente políticas. Eu vim para a Filosofia por questões existenciais e, particularmente, por questões religiosas, uma formação religiosa cristã muito forte. Não vinda da minha família, uma família que não tinha esse traço, mas porque estudei em colégio de freiras. MARINA AMARAL - Onde? Catanduva. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - A senhora é de que cidade? Nasci em São Paulo, morei dos 3 aos 9 anos em Pindorama, dos 9 aos 14 em Catanduva, e aos 15 vim para São Paulo. A grande questão que se punha para mim, e que frequentemente se põe para um cristão, é a questão de Santo Agostinho, que é a de saber como um Deus onisciente cria um ser livre, sabendo, pela sua onisciência, que, portanto, esse ser vai pecar. Ele pune esse ser que foi criado já para o pecado. Evidentemente, Santo Agostinho resolve o problema, mas a solução agostiniana, a solução cristã nunca me convenceu. E o meu problema era: como vou conciliar a onisciência divina e a liberdade humana, como juntar essas duas pontas, e juntar isso na figura de um Deus que é juiz? Mas tive ainda outro motivo: quando comecei a estudar filosofia no curso secundário, tive um professor excepcional, João Villa-Lobos, e o primeiro impacto para mim foi a descoberta do pensamento enquanto pensamento. Ele deu um curso de lógica formal, portanto, um curso no qual você não operava com conteúdos, operava exclusivamente com os mecanismos intelectuais do ato
_162/
18 entrevistas _ revista caros amigos
de pensar. E fiquei fascinada com a ideia de que você pudesse se dar ao próprio pensamento. JOSÉ ARBEX JR. - Isso em Catanduva ainda? Não, aqui em São Paulo, no curso colegial, Colégio Presidente Roosevelt. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Estamos falando de que ano, professora? Estamos falando de 1957 a 1959. Mas eu não tinha muita clareza do que eu queria fazer. Me lembro que, às vésperas do vestibular, minha mãe estava passando roupa e teve uma crise, ela disse: “Eu não sei o que vou fazer com você, não sei o que vou fazer...”. Porque eu queria fazer letras, direito, história, filosofia. E ela dizia: “Todas as pessoas se decidem, menos você”. Contando essa história há pouco para o Raduan Nassar, que é muito amigo da família, ele disse: “A sua mãe é mesmo uma mulher excepcional, porque outra mãe estaria dizendo: ‘Não arranja marido, não casa, não vai cuidar da casa...?’ E a preocupação era o que você ia fazer na universidade” (risos). Até que, finalmente, sob a pressão dela e do meu próprio existencial, eu disse: “Bom, então vou fazer filosofia”. E vim fazer. MARINA AMARAL - Sempre escola pública? Escola pública. Só para você ter ideia, no ginásio fazíamos, além de história, geografia, língua portuguesa, literatura portuguesa e literatura brasileira, também latim, inglês e francês. E depois, no colegial, se acrescentava espanhol e grego. JOSÉ ARBEX JR. - A sua família não era rica? Não, minha mãe era professora primária e meu pai, jornalista. Isso teria um peso grande, eram pessoas excepcionais, o clima normal da casa era o gosto pela literatura, pelo cinema, pelo teatro, pelas artes. De maneira tal que levei anos, precisei ficar adulta para descobrir que não era assim em todo lugar. Na minha casa é que era assim.
Eu vim para a Filosofia por questões existenciais e, particularmente, por questões religiosas, uma formação religiosa cristã muito forte. Não vinda da minha família, uma família que não tinha esse traço, mas porque estudei em colégio de freiras.
FRANCISCO ALEMBERT - Como era o acesso à universidade nessa época? Você terminava o segundo grau e, a não ser para a Faculdade de Direito, a Politécnica e a Medicina – que tinham uma procura muito grande –, os alunos que vinham das escolas públicas faziam já dentro do segundo semestre o cursinho. Para todas as outras disciplinas, ninguém fazia cursinho, não existia isso. FRANCISCO ALEMBERT - E aí era uma banca... Aí era uma banca. No caso da filosofia, havia exame escrito e oral. Havia um exame de história da filosofia escrito e oral, de francês escrito e oral, de inglês escrito e oral, de língua e literatura portuguesa e brasileira escrito e oral. JOSÉ ARBEX JR. - Quanto tempo durava cada exame para o candidato? Variava. Se você chegava e o professor percebia que você estava preparado, ele deixava você falar. Se percebia que você não estava muito preparado, na segunda pergunta te despachava. E aí, no exame oral de filosofia, fui examinada pelo professor Lívio Teixeira e ele me perguntou por que eu tinha vindo fazer filosofia. Falei que era porque eu queria saber como conciliar a onisciência divina à liberdade humana. E ele disse: “Mas a senhora acha que a filosofia vai ajudar a resolver esse problema?’ E eu disse: “Ah, claro
que sim”. E ele: “A senhora está muito enganada, vai piorar o seu problema”. Aí fui para casa e chorei (risos), porque eu pensei: “Falei bobagem para o professor, evidente que ele não vai deixar eu entrar” (risos). Bom, feitos os exames, as notas eram fixadas num mural. Vim com a minha mãe e disse: “Não vou olhar, vai ser um vexame, uma vergonha, a senhora olha”. Minha mãe, muito penalizada, começou de baixo, foi subindo, e não tinha o meu nome, não tinha o meu nome, quando chegou mais ou menos no meio ela falou: “Coitada, não passou”. E continuou, e eu tinha passado em primeiro lugar. Aí minha mãe queria me bater (risos). Ela disse: “O que você fez com a família nesses 15 dias, o que você nos maltratou, o estado em que ficamos por sua causa! Isso não se faz, ninguém mais vai confiar em você”. Aí eu chorei loucamente porque tinha passado. E vim fazer o curso. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Quem eram seus contemporâneos no exame? O Raduan, o Marcelo Dascal, o Rubens Rodrigues Torres, Ulisses Guariba, Heleni Guariba... JOSÉ ARBEX JR. - Daí que a senhora conhece o Raduan? Não, conheço o Raduan de Pindorama. Minha mãe alfabetizou Raduan. Alfabetizou e preparou Raduan para entrar no ginásio. Somos muito amigos. Tanto que esse último conto que ele escreveu, Menina a Caminho, é dedicado à minha mãe. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - O primeiro ano seu na universidade foi em... 1959. FRANCISCO ALEMBERT - Lá na Maria Antônia? Lá na Maria Antônia. E a Maria Antônia era uma coisa extraordinária, porque você tinha num prédio Ciências Humanas e Letras, no
\163_
#11_ Marlena Chaui
prédio vizinho, Ciências Naturais e Exatas, do outro lado do pátio você tinha Economia. E tudo isso se reunia no saguão da Maria Antônia e nos dois bares da Maria Antônia. Então, você fazia vida intelectual, vida cultural, discussão política, você cruzava com todos o tempo todo. JOSÉ ARBEX JR. - E a relação entre as pessoas, os alunos, era uma relação livre ou havia muita formalidade? A relação era formal com os professores. Nós os chamávamos de senhor/senhora e eles nos chamavam de senhor/senhora. Primeiro, você falava muito pouco em aula, assistia à aula num silêncio respeitoso. E, quando falava, pedia licença e dizia: “Senhor professor” ou “Senhora professora”. Aí ele respondia: “Não, minha senhora, parará parará” ou “Dona Fulana, Senhor Fulano”. Era muito cerimonioso. Entre os alunos, não. MARINA AMARAL - E já existia um clima libertário, de namoros mais livres? Já, bastante. A Maria Antônia era outro mundo. Então, foi nesse clima que aconteceu o instante espinosano. No segundo ano, fiz História da Filosofia Moderna e Teoria do Conhecimento. Esta era com o professor Cruz Costa, e a História da Filosofia era com o professor Lívio Teixeira. FRANCISCO ALEMBERT - Lógica era com Granger? Lógica era com o Granger e o Gianotti. Deixa eu contar uma coisa divertida, com o Gianotti. Ele entrou na classe, éramos sete mulheres e um homem, olhou e disse: “O que as violetinhas estão fazendo aqui? Marido é lá nas Letras”. Os meus joelhos começaram a tremer debaixo da mesa, e tremeriam o ano inteirinho. Aí ele deu uma aula e não entendi uma palavra. Eu pensei: “Eu não vou entender nada”. Estudei feito uma louca, sozinha, porque não entendia. Aí ele
_164/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O professor Lívio deu o curso sobre a Ética de Espinosa e, quando chegou na última aula, eu estava completamente fascinada, tomada, e nesse clima do senhor/senhora e você não fala nada, do fundo da classe, eu disse: “Professor, isso é o que eu procurei a vida inteira” (risos).
marcou seminários. Seminários eram o pavor de todo mundo. E não era assim como a gente faz hoje, forma grupos de estudo, você escolhe o tema, o professor oferece uma bibliografia. Não. Você tinha de analisar textos, e o professor dizia: “Você faz isso, você faz isso, você faz isso”. Para mim, caíram algumas das lições do Curso de Filosofia Positiva, do Augusto Comte. Primeiro seminário, uma menina começa a fazer, e estava nervosíssima. O Gianotti disse para ela: “Mas você é burrinha”. MARINA AMARAL - Que horror! Aí a menina simplesmente desmanchou, não conseguiu, foi uma tragédia. O seminário seguinte era o meu, os joelhos tremiam. Comecei o seminário, fui fazendo e num dado instante o Gianotti disse: “Que edição você está consultando?” Eu tremi mais ainda porque não sabia que havia edições diferentes. Aí eu disse: “Eu não sei, professor”. E ele falou: “É uma edição curiosa, porque nela você lê de ponta-cabeça”. Fiz o seminário até mais da metade lendo um livro de ponta-cabeça (risos). Não sei como li, tal o pavor. Isso dá para vocês verem um pouco o que era seminário.
JOSÉ ARBEX JR. - Quanto a senhora tirou no seminário do Gianotti? Tirei nove. FRANCISCO ALEMBERT - De ponta-cabeça é mais fácil (risos). Bom, aí o professor Lívio deu o curso sobre a Ética de Espinosa e, quando chegou na última aula, eu estava completamente fascinada, tomada, e nesse clima do senhor/senhora e você não fala nada, do fundo da classe, eu disse: “Professor, isso é o que eu procurei a vida inteira (risos). Não tem pecado, não tem culpa, não tem livre-arbítrio, não tem um Deus juiz, não tem onisciência que me governe de fora. Só tem felicidade e alegria, foi isso que eu procurei”. Assim que acabei de falar, pensei: “Ih, que horror, dancei, não se fala uma coisa dessas numa classe”. E, de lá, ele disse para mim: “Dona Marilena, é a primeira vez que eu vejo amor intelectual em estado puro” (risos). Aí eu falei: “Bom, é com esse que eu vou”. E por isso fui estudar Espinosa. MARINA AMARAL - Sua dedicação a esses assuntos acadêmicos era total ou se dispersava pelo interesse político, ou mesmo coisa da juventude... Era uma coisa dispersa, porque eu me casei aos 22 anos, tive meu primeiro filho aos 23 anos e a segunda, aos 25. Quando tive meu primeiro filho, estava terminando a faculdade. JOSÉ ARBEX JR. - Isso era comum na época, moças se casavam? Durante o curso não era comum, esperava terminar. A maioria que casava durante o curso desistia. LAÍS DA COSTA MANSO - Do marido ou do curso? Em geral, do curso. Só hoje é que você desiste do marido (risos). Naquela época, você desistia do curso. Eu tinha todos os meus interesses amorosos e familiares. A minha concentração na
vida acadêmica ocorreu por acaso, porque, na hora em que fiquei grávida, achei que não tinha condição de fazer aquela disciplina daquele ano, então tranquei a matrícula e fui fazer no ano seguinte. E foi o ano no qual foi criada a pós-graduação. Então, no exame final, o Gianotti reuniu um grupo e disse: “Foi criado o curso de pós-graduação...”. Não fazíamos ideia do que fosse um curso de pós-graduação. “Vocês vão fazer o curso de pós-graduação e têm que fazer uma tese.” Não sabíamos o que era uma tese. “E, para fazer uma tese, tem de escolher um orientador.” Sabíamos menos ainda o que era um orientador. Com essa enorme explicação do que era pós-graduação e a tese, eu fui, porque o professor mandou. E acabei ficando. JOSÉ ARBEX JR. - Quer dizer que o Gianotti foi uma personagem meio que decisiva na sua vida em certos aspectos? Foi uma personagem decisiva na vida de todos os meus contemporâneos, porque, como era muito empreendedor, tinha em vista criar um corpo de professores estável, organizar um programa muito claro. E, na hora em que a reestruturação da faculdade ia começar, e essa reestruturação ia passar pela aposentadoria dos professores nas cátedras, e pelas exigências de titulações, o Gianotti, que já era doutor, ia fazer a livre-docência, e o Bento Prado Jr. tinha voltado da França e ia fazer o doutorado. O Gianotti disse: “Você precisa fazer a livre-docência, precisamos de dois livres-docentes”. Porque o Bento não fez o doutorado, ele foi aos 28 anos diretamente para a livre-docência, e isso foi uma percepção muito clara que o Gianotti teve do que era necessário para estruturar um departamento nos moldes exigidos pela reforma universitária. Então o Gianotti marcou toda essa geração e a seguinte. FRANCISCO ALEMBERT - É nesse momento que o marxismo entra na Filosofia?
\165_
#11_ Marlena Chaui
É um pouco depois. Para valer, ele entra no departamento – apesar do grupo de estudos do Capital – a partir de 1964. JOSÉ ARBEX JR. - E qual foi a sua primeira impressão sobre o Marx? Fiquei fascinada, deslumbrada, por quê? Eu tinha uma explicação do mundo que a religião tinha me dado, e com todos os problemas que ela colocava, ela era a explicação totalizante que eu tinha para o sentido das coisas. Aí li Marx e descobri que o mundo era outra coisa. Marx foi para mim na descoberta do mundo o que foi Espinosa na descoberta do absoluto. É outra coisa. O meu primeiro fascínio foi o que é a materialidade do mundo, o que significam as relações sociais, o que é a luta de classes e como você pode explicar o mundo que você está vivendo. WAGNER NABUCO - E aí a senhora não teve nenhum impulso de ter uma participação mais efetiva? De um grupo? Não. O primeiro efeito sobre mim foi muito engraçado, passei a ver os filmes e ler os romances de outro jeito, via um filme marxistamente, lia um romance marxistamente. A impressão que eu tinha era que uma luz absolutamente fulgurante tinha baixado e que o mundo tinha se tornado compreensível para mim. Então, tudo aquilo que eu via de uma maneira fragmentada começou a se conectar, e tudo fazia sentido. A realidade passou a fazer sentido. FRANCISCO ALEMBERT - Quer dizer que essa percepção material ainda não estava no seu pensamento filosófico? Ainda não, ela veio em 1964. JOSÉ ARBEX JR. - Como foi 1964 na USP, qual foi o impacto? Em termos pessoais, a primeira coisa de que me lembro é: eu estava grávida, cheguei no dia 29
_166/
18 entrevistas _ revista caros amigos
de março, estava aquele auê, todo mundo dizia: “É preciso ser janguista, não tem conversa, temos de ser janguistas, temos de acompanhar o Brizola, é por aí que a coisa vai”. Bom, aí vem o golpe e estávamos em assembleia, porque ter decidido apoiar como força social o Jango e o Brizola significava que tínhamos de nos organizar para saber como esse apoio ia ser dado. WAGNER NABUCO - Numa reunião desse tipo, com as várias posições, todo mundo achou que não tinha jeito nesse momento... Todo mundo, era uma posição unânime. E aí, junto com a notícia do golpe, veio a notícia de que a Maria Antônia ia ser ocupada pela polícia. Então nos organizamos para impedir a ocupação. E nos distribuímos por todos os prédios e pelas portas e janelas. E ficamos na porta central, de braços dados, Florestan, Antônio Cândido – a tropa de choque –, Mário Schemberg, Simão Mathias, Maria Isaura, Fernando Henrique, Eder Sader e eu com a minha barriga (risos). E a mulher do Eder, a Regina Sader, disse: “Marilena, é um absurdo você ficar aqui com esse parto iminente. Você vai embora”. Quando me posicionei para ir embora, a polícia entrou na Maria Antônia. Corri da Maria Antônia à praça da República, onde eu pegava o ônibus, com o barulho das botas atrás. Entrei no primeiro ônibus. Um mês e meio depois, meu filho nasceu, prematuro. Bom, imediatamente se dão as fugas. É aquele período em que as casas dos principais professores foram invadidas. Um período em que se rasga a Enciclopédia Britânica, se põe na fogueira O Vermelho e O Negro... todas as barbaridades que fizeram com Isaías Raw, enfim, esse primeiro período é um período de enorme silêncio, de muito temor e da primeira partida, a primeira leva de exilados. JOSÉ ARBEX JR. - As aulas são interrompidas? Tudo, só se retomaram no segundo semestre.
FRANCISCO ALEMBERT - Nesse período, vocês se encontravam nas casas? Ainda, porque a coisa dura vai acontecer em 69. O período de 64 e 65 é duro para os militantes dos partidos e dos grupos clandestinos. É para eles que a coisa é pesada. Para os outros, não. Para os outros, você tem essa coisa difusa da ditadura. Não há ainda propriamente censura porque a imprensa é toda favorável ao golpe. Me lembro, um pouco antes do golpe, da Marcha da Família, lá no centro da cidade, que era uma coisa de dar um medo, mas um medo... JOSÉ ARBEX JR. - Por quê? Porque você tinha a impressão de que era uma marcha hitlerista. Você tinha a sensação de que era o nazismo. A família rezando unida, os terços, as novenas em todas as casas, as casas enfeitadas com crucifixos, as janelas com estandartes. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Que sentimentos a senhora teve então? De desolação. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Mas havia uma reflexão sobre o Brasil? Começou então, e foi nessa hora que me aproximei de um grupo trotskista, a Polop (Política Operária). JOSÉ ARBEX JR. - Por que a senhora se sentiu atraída pelo trotskismo? O que aconteceu foi o seguinte, embora figuras como a do Caio Prado ou do Mário Schemberg me fizessem levar a sério o Partido Comunista, o stalinismo tornaria impossível para mim um namoro qualquer com o partido. Era incompatível com aquilo que eu pensava do marxismo e da revolução. O trotskismo revelava o marxismo e era a revolução a caminho. Eu achava que o marxismo passava por ali, a revolução passava por ali, e não pelo Partido Comunista.
Junto com a notícia do golpe, veio a notícia de que a Maria Antônia ia ser ocupada pela polícia. Então nos organizamos para impedir a ocupação. E nos distribuímos por todos os prédios e pelas portas e janelas. E ficamos na porta central, de braços dados, Florestan, Antônio Cândido – a tropa de choque –, Mário Schemberg, Simão Mathias, Maria Isaura, Fernando Henrique, Eder Sader e eu com a minha barriga (risos). E a mulher do Eder, a Regina Sader, disse: “Marilena, é um absurdo você ficar aqui com esse parto iminente. Você vai embora”. Quando me posicionei para ir embora, a polícia entrou na Maria Antônia. Corri da Maria Antônia à praça da República, onde eu pegava o ônibus, com o barulho das botas atrás. Entrei no primeiro ônibus. Um mês e meio depois, meu filho nasceu, prematuro.
\167_
#11_ Marlena Chaui
JOSÉ ARBEX JR. - Aí a senhora foi para a França... Fui fazer o mestrado, contratada pelo nosso departamento, e tinha de fazer o que era designado, que era passar os dois anos na França. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Em que ano estamos, professora? 1967. Em outubro de 1967, fui para Clermont-Ferrand, fui para Auvergne (região da Universidade Clermont-Ferrand), onde o inverno dura seis meses e faz 16 abaixo de zero. E acontece que eu peguei Maio de 68. Aí, é outra história para contar. MARINA AMARAL - Como era Maio de 68, era aquela atmosfera o tempo inteiro? Inteirinho, noite e dia. Não dá para descrever, é uma experiência indescritível. Não há, impossível. É proibido proibir, não há o impossível. Outro dia, numa retrospectiva que a televisão francesa fez, eu chorava cataratas, era uma retrospectiva com os filmes super 8 feitos na época, dura cinco horas. Assembleia por assembleia, passeata por passeata, barricada por barricada. E eu ficava esperando o instante em que ia me ver. Aí, meu Deus, não é possível, eu estava lá, estava lá. Vocês não imaginam o que é passar pela experiência revolucionária. É uma coisa, é uma coisa... Eu digo que todo mundo tem de viver uma grande paixão amorosa e ter uma experiência pela possibilidade da revolução. Sem essas duas coisas, você não viveu uma vida completa. Tem de ter, porque o mundo se abre com todas as janelas a um futuro completamente nebuloso e que está lá, você sabe que está lá, e você sabe que você vai para ele, que vai acontecer, que ele vai acontecer com as tuas mãos. Gente! LAÍS DA COSTA MANSO - A juventude de hoje está tão longe... Eles não fazem ideia do que seja. Aí começou o
_168/
18 entrevistas _ revista caros amigos
refluxo, e o primeiro estágio do refluxo era a perseguição aos estrangeiros porque, é claro, para a repressão francesa, Cohn-Bendit começou tudo e, portanto, os estrangeiros eram os responsáveis! Mas o período de refluxo lá não se compara com o que aconteceu aqui, porque lá havia a ideia de que você, apesar das traições, faria a revolução. Aí fomos todos para Vincennes. Estavam lá Foucault, Deluze, Lacan, Marcuse. Todo mundo no acontecimento. Mas aqui, aqui foi o terror, vieram o AI-5 e as cassações. Então eu voltei. Nosso departamento estava dizimado. A faculdade estava dizimada. MARINA AMARAL - E voltou apavorada, não? Quando saí de lá, a Albertina Costa, que tinha chegado lá no começo de 69, me disse: “Está havendo revolução no Brasil, estamos num processo revolucionário”. Falamos do Guevara, de tudo o que tinha de falar. Eu tinha recebido as instruções do que deveria fazer ao chegar. JOSÉ ARBEX JR. - Instrução de quem, do grupo? É, do grupo. E vim sem a menor ideia, porque imaginava que o refluxo aqui era como lá. MARINA AMARAL - Nos moldes franceses... Só para vocês terem ideia, me deram material e não tive dúvida, pus dentro de uma Marie Claire e vim. Desci no aeroporto, passei pela alfândega, com tudo debaixo do braço, dentro de uma Marie Claire. JOSÉ ARBEX JR. - Foi a inocência que salvou. Bom, aí cheguei e caí na real. Foi um susto. Além de susto, foi uma angústia, desespero, desolação, não só todo mundo que sumia, mas o fato de que os que tinham ido para a clandestinidade não podiam te dizer que estavam na clandestinidade. Eu fiquei sem lugar. Cheguei e, como tudo já era clandestino, não havia lugar para mim. Fiquei perdida, era o sentimento de estar em lugar nenhum.
Eu digo que todo mundo tem de viver uma grande paixão amorosa e ter uma experiência pela possibilidade da revolução. Sem essas duas coisas, você não viveu uma vida completa. porque o mundo se abre com todas as janelas a um futuro completamente nebuloso e que está lá, você sabe que está lá. MARINA AMARAL - A faculdade... A faculdade funcionando precariamente. Então a gente se agarrou aqui, para impedir que isso aqui terminasse. Foi o instante em que a Gilda Mello e Souza criou a revista do departamento. Maria Sílvia Carvalho Franco fez a livre-docência, eu fiz o doutoramento, formamos, em um ano, oito mestres, pusemos o departamento para funcionar. Mas era terrível, porque você tinha os policiais nas salas de aula, tinha as escutas nas salas dos professores, você chegava e não sabia se ia voltar para casa. Você nunca sabia se ia voltar para casa, nunca, nunca. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Era, literalmente, policial na sala de aula? Literalmente, e escuta na sala dos professores. E um grupo de militares à paisana na reitoria. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - A sua volta se deu quando? Em dezembro de 1969. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Portanto, isso aí é 1970, 1971 e vai para frente. Vai até 1975. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Mesmo dentro do golpe, há um movimento em que a coisa fica
mais violenta, que é depois do AI-5, a coisa se torna mais aguda ainda. Porque, até 1968, a repressão pesada ainda não começou. Então, tem a tomada da Maria Antônia, tem a guerra campal, com tudo o que acontece em 1968 e 1969. Por isso, quando a Albertina chega em Paris, me diz: “Estamos num processo revolucionário”. É porque você tem as guerrilhas no interior, o movimento estudantil nas capitais e toda a política dos focos nas grandes cidades. Então, o que você tem? Tem, digamos, a repressão no nível da repressão de massa, o instante em que se mata estudante, se reprime passeata, mas não tem ainda o que vai acontecer logo em seguida. MARINA AMARAL - Que é a caçada. Que é no silêncio, a desaparição. É aí que a coisa começa. Tanto que, logo que eu cheguei, Heleny Guaríba e Emir Sader, cada um em dias diferentes, foram em casa, conversamos longamente. Alguns dias depois, Heleny desapareceu. E Emir foi para o Chile. Era assim. LAÍS DA COSTA MANSO - Esses policiais que estavam na sala de aula escutavam ou interrompiam a aula? Só escutavam. Eles vinham vestidos de estudantes, calça jeans... JOSÉ ARBEX JR. - Eram agentes, não se sabia que eram policiais, em tese. No caso da Filosofia, a gente percebia pelo olhar deles. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque os sobreviventes, e os que não tinham sido presos nem torturados, desenvolveram sem perceber uma linguagem críptica, um vocabulário que só fazia sentido para nós. MARINA AMARAL - E os alunos participavam dessa linguagem? A participação dos alunos se tornou intensa.
\169_
#11_ Marlena Chaui
Criou-se uma solidariedade difusa e profunda entre professores, alunos e funcionários. Então, você sabia que vinha e não sabia se ia voltar; e sabia que vinha e não sabia se ia encontrar os alunos, se ia encontrar os colegas. Você estava no cafezinho e, um belo dia, a Carmute não aparece, não aparece, não aparece. Está um belo dia no cafezinho e o Salinas não aparece, não aparece. Era assim. E há aqueles que não aparecem e não aparecerão nunca mais; e aqueles que não aparecem, mas depois você sabe que foram para outro lugar. Então, o que se criou foi um clima de solidariedade e com um fenômeno muito interessante, não sei se aconteceu nos outros lugares da universidade, mas na Filosofia, Ciência e Letras aconteceu. Era o seguinte: tínhamos um inimigo claro, que evidentemente era a ditadura, mas através da ditadura se constituiu para nós a figura do inimigo político para sempre, que era o autoritarismo. Então, onde você percebesse que estava se instalando uma relação hierárquica, uma relação de poder e uma relação de autoridade, você era sensível para perceber isso e não deixava acontecer. Nem na sala de aula, nem na defesa de tese, nem na orientação de aluno. Por isso, considero que foi aí que me formei, porque foi um período muito peculiar. Tanto que hoje em dia, depois da década de 80, onde tudo se transformou e o mundo é outro, nesse departamento sou conhecida como a grande mãe. Aquela que aceita o trabalho ruim, corrige, ajuda a melhorar até o trabalho ficar bom. Aquela que ouve aqueles seminários errados e chatérrimos, espera o aluno acabar, conversa com ele, até ele entender, e assim por diante. Não é uma figura materna, é uma figura política. É uma figura política, porque assim que decisivamente fui formada nos anos 70. FRANCISCO ALEMBERT - Isso influenciou bastante a tua obra nos anos 80. Dá para ver, aí, os livros sobre orientação sexual, ideologia...
_170/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Era o seguinte: tínhamos um inimigo claro, que evidentemente era a ditadura, mas através da ditadura se constituiu para nós a figura do inimigo político para sempre, que era o autoritarismo. Então, onde você percebesse que estava se instalando uma relação hierárquica, uma relação de poder e uma relação de autoridade, você era sensível para perceber isso e não deixava acontecer. Nem na sala de aula, nem na defesa de tese, nem na orientação de aluno. Por isso, considero que foi aí que me formei, porque foi um período muito peculiar. Tanto que hoje em dia, depois da década de 80, onde tudo se transformou e o mundo é outro, nesse departamento sou conhecida como a grande mãe.
Discurso competente... Onde eu percebesse que o autoritarismo se infiltrava, era lá que eu ia. Bom, e na minha trajetória isso culmina com a entrada no PT. No meio do caminho, o Weffort criou o Cedec, Centro de Cultura Contemporânea, porque ele achava que o Cebrap era muito economicista. Então ele propõe a criação do Cedec; e eu criei o Cedec junto com ele.
FRANCISCO ALEMBERT - Como você se aproximou do grupo que fundou o PT? Foi via Cedec. Começamos o Cedec como centro de estudos políticos e de ideologia. O tema era socialismo e democracia, em volta disso as questões de ideologia. Era uma análise da situação nacional e mundial das esquerdas, uma análise da ação de resistência no país e uma proposta de ação política. Tanto que do Cedec teria nascido um partido socialista, se não tivesse havido o ABC. FRANCISCO ALEMBERT - E o Cedec tinha um programa político de partido? Tinha, de partido socialista. FRANCISCO ALEMBERT - E, no meio, vocês encontraram os operários do ABC? É. Eu digo isso literalmente. Poucos intelectuais podem ter na vida o privilégio de ter uma proposta de esquerda em que a história seja feita pelos próprios trabalhadores e não por uma vanguarda intelectual, e dar de cara com eles. MARINA AMARAL - Como foi esse encontro? O primeiro encontro foi muito divertido. Fomos para o ABC e os operários diziam: “Vieram fazer tese, professora? (risos)”. JOSÉ ARBEX JR. - Os sindicalistas? O Lula perguntava também? Perguntava. Todos eles perguntavam: “Veio fazer tese, professora?”. Porque uma das formas
que a resistência tinha tomado era estudar a classe operária, fazer tese sobre classe operária, não havia outro assunto. Todo mundo foi para lá. E foi maravilhoso, porque eles tiveram distanciamento com relação a nós perguntando se eram objeto de estudo. Ficou todo mundo com a cara no chão e aí a gente não tem coragem de dizer: “Não, somos companheiros, viemos aqui para participar”. Com que cara você vai falar isso? Então, num primeiro momento, eles recusaram a nossa presença. Tanto que, na primeira entrevista que o Lula deu na televisão, uma longa Roda Viva, foi perguntado para ele: “Qual é o papel da universidade?”. Ele disse: “Os estudantes e os professores serão de enorme ajuda, se ficarem na universidade estudando”. Aquele banho de água fria. Então, muito devagarinho, e uma figura importante para aproximação foi o Weffort, e o Mário Pedrosa, e a Lélia Abramo, foram conseguindo convencer os operários de que os intelectuais, os artistas, os universitários, os estudantes eram aliados importantes que estavam na mesma luta, e que era uma loucura deixar de fora. A aproximação foi feita, e houve a discussão sobre a criação de um partido. Eles eram contra, porque na cabeça deles o partido era o Partidão. MARINA AMARAL - A proposta era de vocês. Não, foi o Jacó Bittar. Ele propôs que se criasse um partido político, e houve uma reação violenta da classe. Porque a imagem que a classe tinha era uma imagem correta, aliás, tinha duas imagens, a do Partido Comunista e a das vanguardas, e eles não queriam saber de nenhuma das duas. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - E quando surge o PT? Aí aconteceu o seguinte: os operários se cansaram dessa discussão. Vocês podem imaginar o que eram essas discussões. E havia três posi-
\171_
#11_ Marlena Chaui
ções. Uma dizia: “Precisa continuar a infiltração no PMDB e transformar o PMDB”. A outra era: “Não, é preciso criar um partido socialista fora das hostes do PMDB”. E a terceira era: “Não, não se cria partido político nenhum, vamos agir sob a forma dos movimentos sociais”. Só que, a partir de um determinado momento, quando começa o esgotamento do poder das greves, e depois vem a prisão do Lula e tudo, eles tiveram uma discussão lá no ABC e viram que o sindicato não era o suficiente. Eles se deram conta de que o que estavam fazendo não passava só pela relação de trabalho, era uma coisa que atingia a sociedade inteira e que, portanto, só através do sindicato, eles não iam chegar a lugar nenhum. E decidiram criar um partido. E a questão que eles se colocaram foi: “Que partido?”. O Lula disse: “Dos Trabalhadores”. É assim que nasceu. WAGNER NABUCO - E esse nome, esse posicionamento, para os intelectuais não causou estranheza o fato de ser um nome sem definição ideológica? Levei um susto. Caí do cavalo, porque pensei: “Agora, a esquerda inteirinha, sem nenhuma restrição, vai porque, meu Deus do céu, a classe universal se organizou, criou o partido e vai fazer a revolução. Vai a esquerda inteira. Quando no mundo isso aconteceu? Eu fui privilegiada”. E levei o susto, caí do cavalo porque as críticas mais ferozes vieram da esquerda. Eu disse: “Não entendi nada. Como a esquerda recusa o seu partido, aquilo que ela deve ter esperado durante anos?”. Para mim, foi uma coisa assim... E, aí, tudo de que eu tinha percepção muito confusa ficou claro da noite para o dia. Aí entendi o que é o Partido Comunista, entendi o que é o PCdoB, fui entendendo, porque, na hora em que a classe universal se organiza - “Eu vou” - e a esquerda não cai, aí tem de entender. JOSÉ ARBEX JR. - No começo da entrevista, a
_172/
18 entrevistas _ revista caros amigos
senhora falou que o marxismo foi como uma luz, que lhe deu uma explicação total para o mundo etc. Nunca lhe passou pela cabeça o fato de o marxismo ser uma forma de religião, totalizante... Nunca. Porque o marxismo não tem nenhuma relação com a transcendência, nenhuma relação com o juízo vindo do exterior e nenhuma, mas nenhuma relação com a ideia de redenção e salvação. Ele opera com a materialização social. JOSÉ ARBEX JR. - Revolução não é uma forma de religião? Não, ela é uma emancipação, feita pelos próprios homens. JOSÉ ARBEX JR. - A senhora continua sendo marxista mesmo? Totalmente. JOSÉ ARBEX JR. - E qual o balanço que a senhora faz sobre o Leste Europeu, o Muro de Berlim? Para uma esquerda que não foi comunista stalinista, os acontecimentos do Leste Europeu foram um alívio. E, ao mesmo tempo, um problema de uma envergadura descomunal. Foi um alívio porque finalmente a esquerda pôde se afirmar, sem ter ininterruptamente que se explicar a respeito do stalinismo, carregar o fantasma do stalinismo. Então, ela tem uma liberdade de pensamento e uma liberdade de ação que não teve antes. Por outro lado, com o que ela se defronta? Com o fato de que, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de uma luta planetária, a existência do Leste Europeu era um limite para a burguesia. A burguesia sabia que não podia transpor um determinado limite porque haveria a possibilidade de uma revolução. Esse limite desapareceu. Se estamos na barbárie, é por causa da queda do Muro de Berlim – agora pode tudo.
JOSÉ ARBEX JR. - E o Lula hoje, comparado com 1979? Não vejo o Lula há muito tempo, não sei como está pensando ou o que está fazendo. Eu diria que o Lula limitou o poder e o papel que ele tem dentro do PT à figura pacificadora, quando ele tem um potencial, um poder, um prestígio, um carisma, uma força para reformar o partido. A segunda coisa é que o Lula – mas aí não é um problema dele, é um problema da esquerda inteira – ficou desarvorado com os efeitos iniciais do neoliberalismo. Que são de desarticulação de todos os referenciais e que, ao colocar o mercado como destino e a economia como funcionamento da moeda, retira de você a tua própria história. MARINA AMARAL - Por que foi tão forte o impacto do neoliberalismo na sociedade, que ficou todo mundo sem saber o que fazer, o que provocou essa despolitização? Não, uma coisa é a despolitização, outra coisa é o impacto. O impacto sobre a esquerda vem porque, quando o neoliberalismo desestrutura o setor produtivo, reestrutura o setor financeiro e mexe no aparelho de Estado. Ele vai abolindo todos os referenciais de que você dispõe como experiência histórica de luta e de organização, então você fica sem parâmetro. É como se, subitamente, você soubesse que tem um inimigo e não soubesse quem ele é, onde ele está. E, como você não sabe quem ele é e onde ele está, você não sabe como se luta contra ele. Então, dá um branco geral. E isso favorece uma proposta governamental de despolitização. Você tem uma situação de fato propensa à despolitização, porque tudo aquilo que você sabia que era fazer política não funciona mais. Então você tem um recuo do fazer política, um avanço do conservadorismo e uma proposta que vem do alto de que isso é consenso e é a paz democrática. Então, é a sopa no mel.
Você tem uma situação de fato propensa à despolitização, porque tudo aquilo que você sabia que era fazer política não funciona mais. Então você tem um recuo do fazer política, um avanço do conservadorismo e uma proposta que vem do alto de que isso é consenso e é a paz democrática. JOSÉ ARBEX JR. - Professora, que balanço a senhora faz da sua participação na gestão da Erundina? E, na perspectiva de a Marta Suplicy ganhar as eleições, a senhora considera a possibilidade eventual de voltar ao governo? Não. JOSÉ ARBEX JR. - Por quê? Eu me considero um animal político sem nenhuma vocação e nenhuma capacidade administrativa. Não faço um balanço da minha gestão, faço uma imagem. Se alguém me perguntar: “Marilena, depois da Divina Comédia de Dante Alighieri, e depois de À Porta Fechada do Sartre, qual a sua imagem do inferno?” (riso geral). Eu digo: a Prefeitura de São Paulo, e a condição de secretária de Cultura. Vou contar duas passagens porque são tão contraditórias que vai ficar mais claro porque tenho essa imagem terrível da minha experiência. Um dia depois da posse da Erundina, ela foi procurada pelo Bardi, que contou a situação desesperadora do Masp, que corria até o risco de cair, e foi pedir recursos. Não havia recursos para tocar a prefeitura, muito menos para outras coisas. De todo modo, a Erundina me encarregou de ir ao Masp conversar com as pessoas. Eu fui. A diretoria estava reunida e, quando a porta se abriu, vi entre
\173_
#11_ Marlena Chaui
os presentes gente que tinha criado e financiado a Oban, gente que tinha patrocinado tortura e morte do pessoal de esquerda, gente ligada à ditadura, e tive uma reação física, uma ânsia de vômito, fiquei com a boca cheia de bílis, e pensei: “Não posso entrar, não posso entrar. Eles só receberão auxílio da gestão Erundina em cima do meu cadáver”. Ao mesmo tempo em que era uma atitude absurda, porque havia outras pessoas lá também, porque o museu é um patrimônio da cidade, porque é importante do ponto de vista da cultura. Eu me dizia: “Bom, não posso olhar homogeneamente essa diretoria, não posso dizer que o problema do Masp não é grande e que não é preciso encontrar uma solução, mas não posso permitir que a gestão petista coloque recursos num local onde está a Oban e onde há pessoas que com três ou quatro cheques consertam isso. E que têm suficientes ligações com empreiteiras que podem acabar fazendo de graça”. Essa foi a minha primeira experiência como secretária de Cultura. JOSÉ ARBEX JR. - A senhora entrou ou não na sala? Entrei, e disse que não sabia quais eram as opções políticas deles, e, portanto, não sabia se o que ia dizer poderia ofender alguém, mas que era preciso levar em conta o que o prefeito Jânio Quadros tinha feito com a cidade de São Paulo. Expliquei a situação das finanças e que não tínhamos condição, pelo menos a um curto prazo, de auxiliar o Masp, e me fui. Mas tem a outra experiência. Criamos as chamadas Casas de Cultura. A ideia era que a Casa de Cultura fosse a negação do centro cultural que funciona como um shopping cultural – a ideia era que ela fosse um centro de produção cultural e reflexão cultural. Fizemos a do Ipiranga e a do Butantã. A regional de Itaquera tinha um parque deslumbrante que se tornou o Parque Raul Seixas, e lá havia uma casa linda. Aí fomos fazer a Casa de
_174/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Cultura e todo mundo veio: “Não faça uma coisa dessa, é ao lado da Cohab Tiradentes, vocês vão pintar a casa, eles vão sujar; vocês vão pôr janela, eles vão tirar; vocês vão pôr aparelho de som, eles vão roubar; vai ter tráfico de drogas, vai ter banditismo”. Resolvemos fazer. O administrador regional arrumou o parque, que ficou lindo; ajudou a reformar a casa, que ficou uma beleza. Como o pessoal está acostumado à ideia de que cultura é show, não vinha ninguém. A gente panfletava e não vinha ninguém. Aí fizemos um show. Encheu de gente, e as mães da Cohab descobriram que havia um parque de verdade para as crianças. Então passaram a vir com as crianças. Você vê como é. Começaram a trazer as crianças. Enquanto as crianças brincavam, elas entravam dentro da casa e conversavam. Conversa vai, conversa vem, eram todos migrantes, começaram a trocar receitas. Então perguntaram se podiam fazer um fogão e um forno na cozinha. Respondemos que sim. Elas ficaram meio surpreendidas porque dissemos: “Cozinhar é cultura, é uma coisa importantíssima da cultura, pode cozinhar”. Aí começaram a cozinhar e chegaram à conclusão de que havia muitos ingredientes que elas não tinham, então pediram para fazer uma horta. Aí fizemos a horta. Acontece que uma das meninas que dirigia a casa tinha feito biologia e, conversando com elas, disse: “Vocês usam erva só para tempero, pode usar para tanta outra coisa. Dá para fazer cosmético, dá para fazer produto de limpeza. Dá para fazer isso, fazer aquilo, dá para fazer chá de não sei o quê”. Elas ficaram entusiasmadíssimas. E pediram um curso de ervas. Fomos na Faculdade Paulista de Medicina, na Farmacologia, e perguntamos se havia médicos que estivessem dispostos a dar um curso de farmacologia para mulheres da Cohab. Disseram que sim. Mas, aí, a assessoria jurídica da Secretaria de Cultura explicou que não podia fazer o contrato com a Faculdade Paulista porque a
Hoje em dia, a cidade de São Paulo tem um conceito de vanguarda do que é cultura. Eu poderia multiplicar histórias como essa da Cohab, uma mais comovente que a outra, só que isso era contrabalançado pelo cotidiano administrativo, que é um horror! Uma coisa dantesca, inominável, porque é uma máquina gigantesca imóvel, rotineira, que não aceita mudança. E da burocracia eu sabia o que o Marx, o Lefort e o Hegel tinham falado (riso geral). Aí experimentei a burocracia, e eu era tão ingênua, tão ingênua que logo no começo, depois de bater na burocracia, bater, bater, convoquei uma assembleia de todos os funcionários. “Vou explicar para eles o que é a democracia e por que a burocracia é contra a democracia.”
farmacologia não é cultura (risos) e trouxe o regimento da secretaria onde cultura é definida como “arte”. Fizemos um projeto de lei mudando a definição de cultura (risos), levamos na Câmara, conversamos com cada vereador, vários deles perceberam que não alterar aquilo, não deixar as mulheres da Cohab Tiradentes ter o seu curso, ia influir nas eleições e aprovaram. Hoje em dia, a cidade de São Paulo tem um conceito de vanguarda do que é cultura. Eu poderia multiplicar histórias como essa da Cohab, uma mais comovente que a outra, só que isso era contrabalançado pelo cotidiano administrativo, que é um horror! Uma coisa dantesca, inominável, porque é uma máquina gigantesca imóvel, rotineira, que não aceita mudança. E da burocracia eu sabia o que o Marx, o Lefort e o Hegel tinham falado (riso geral). Aí experimentei a burocracia, e eu era tão ingênua, tão ingênua que logo no começo, depois de bater na burocracia, bater, bater, convoquei uma assembleia de todos os funcionários. “Vou explicar para eles o que é a democracia e por que a burocracia é contra a democracia.” Fui lá: “A democracia é isto, isto, isto. A burocracia é isto, isto, isto. A burocracia é contra a democracia. Queremos fazer um governo democrático, mas só podemos fazer um governo democrático se a secretaria dentro dela for democrática”. A expressão das pessoas era de estupidificação e de perplexidade. O que eles pensavam: “Desceu de outro planeta, não sabe o que está falando, tá louca, é louca!”. (riso geral) LAÍS DA COSTA MANSO - E mais, eles pensavam: “Ela passa e nós ficamos aqui”. Exato. “Ela que faça todas essas bobagens que quer fazer”. A outra experiência, para dar também o limite da minha ingenuidade, era o seguinte: fazia uma reunião da equipe de direção, uma reunião fechada, e suponhamos que no meio dessa reunião eu dissesse: “Mas esta secretaria tá uma sujeira, tá uma vergonha, você recebe as
\175_
#11_ Marlena Chaui
pessoas, vamos passar uma tinta nesse prédio”. Terminou a reunião, vem um grupo de representantes do prédio: “Secretária, viemos aqui porque somos contra essa história de pintar o prédio de vermelho e verde (risos)”. Eu disse: “Primeiro, quem disse que vai pintar e, segundo, quem disse que de vermelho e verde?”. Bom, esse tipo de coisa era o cotidiano. Então também fiz uma assembleia sobre o poder antidemocrático da fofoca e do boato (risos gerais). Aí foi o caos completo, porque na cabeça deles o boato e a fofoca são o circuito de informação. Eu dizia para eles: “Isso é a desinformação e a contrainformação, que impedem que circule a informação, e se a informação não circular, a secretaria não será democrática”. Eles não entendiam nada, achavam que eram informadíssimos (risos). Então parei. A relação com esse universo era absolutamente impossível para mim, porque a burocracia funciona na base do sigilo, da hierarquia e da rotina. E a democracia funciona na base da informação, da igualdade e da criação. LAÍS DA COSTA MANSO - E quando começaram a funcionar as subprefeituras não facilitou? Sem dúvida. E mais, a partir do terceiro ano, os funcionários foram se acostumando conosco. Se tivéssemos mais quatro anos, teríamos mudado a Prefeitura e teríamos tido influência sobre a Câmara, porque mandamos para lá 385 projetos de lei – não aprovaram nenhum. Fizemos tudo com a certeza de que era provisório. Tanto que Maluf entra, três meses depois não tem nem sombra de nada do que fizemos, porque nada daquilo ficou institucionalmente consagrado. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Foi um desmonte... E, ao mesmo tempo, tenho coisas cômicas. Em 1991, o Teatro Municipal fez 80 anos e era também o Ano Mozart. Para fazer as comemorações, o custo tem de aparecer na peça orçamentária. E fui chamada à Câmara para explicar o
_176/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Essa primeira universidade da ditadura chamo de “universidade funcional”. ela cumpre duas funções: pacifica a classe média e funciona para o mercado de trabalho. A etapa seguinte, que é a etapa dos anos 80, chamo de “universidade dos resultados”. É aquela que deve mostrar que é produtiva. orçamento da Secretaria de Cultura. Tem uma coisa, tem outra, e aí um vereador perguntou: “Por que essa verba tão alta para o Teatro Municipal?” Eu disse: “O Municipal vai fazer oitenta anos e é também o Ano Mozart”. E outro vereador perguntou: “O Vicente Matheus sabe?”. Eu disse: “Mas o que o Vicente Matheus tem a ver com o Teatro Municipal?”. “A senhora não vai contratar o Mozer?”. (risos) Isso era o ponto mais sofisticado da Câmara de Vereadores com relação à cultura. JOSÉ ARBEX JR. - Professora, a questão da universidade é muito importante, até porque a maioria dos leitores é de universitários, por isso a gente insistiu no começo para a senhora explicar como era a universidade e... Então era bom explicar o que aconteceu com ela depois da ditadura, não é? JOSÉ ARBEX JR. - Eu gostaria que a senhora explicasse a trajetória de um certo grupo de intelectuais que participou da luta contra a ditadura e que hoje participa do desmonte da universidade pública. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Até porque esses nomes permeiam a sua conversa, são citados várias vezes, o Weffort, o Fernando Henrique, o Gianotti...
Bom, deixa contar um pouco. Mesmo porque os estudantes já pediram para ouvir isso várias vezes, o que foi a reforma da universidade no tempo da ditadura. O que faz a ditadura? Ela reprime a classe trabalhadora, reprime a esquerda e tira todo e qualquer poder da classe média, que, entretanto, é a sua base de sustentação. Então ela introduz várias formas de compensação para a classe média, e uma das coisas que ela introduziu como compensação foi a promessa de abertura da universidade como forma de ascensão social e prestígio. Por que ela faz essa promessa e por que ela cumpre? Porque o Conselho Federal de Educação, durante todo o período da ditadura, foi dirigido pelos donos das escolas particulares. Então, o primeiro ato foi destruir a escola pública de primeiro e segundo graus, sob o argumento de que os professores eram subversivos. Na verdade, é porque isso garante a ampliação da rede das escolas particulares, cujos proprietários são os membros do conselho. Depois, é introduzida essa ideia da universidade aberta para a classe média. Isso leva ao aumento do número de vagas, ao mesmo tempo e período em que eles estão lutando contra a chamada evasão de cérebros, isto é, grandes professores contratados por universidades estrangeiras e deixando o Brasil. Então aumentam os salários dos professores e permitem um número maior de contratações – porque exercem em todos os lugares o controle de quem é contratado –, introduzem o vestibular unificado e por teste e modificam o currículo. Introduzem a noção de crédito e estabelecem um número de créditos. Introduzem a ideia de matérias obrigatórias e optativas, introduzem a licenciatura curta, que é para formar os professores de primeiro e segundo graus, introduzem o ciclo básico – em alguns lugares, eles não conseguiram, mas introduziram o ciclo básico. Ao mesmo tempo, deslocam os recursos públicos em duas direções: para os caciques das oligarquias da dita-
dura, e, portanto, esses caciques, esses coronéis, abrem universidades federais, nas quais colocam os amigos. E uma outra parte dos recursos vai para as universidades particulares, que aí pululam em toda parte. Nesse processo, eles deram o segundo grau para a baixa classe média, para compensar a baixa classe média que não ia chegar à universidade, e colocam o segundo grau profissionalizante. No caso do ensino superior, afunilam a entrada na universidade e, ao mesmo tempo, propõem que a universidade começasse a ser indiretamente subvencionada pelas empresas, porque a função da universidade era formar mão de obra para o mercado. Com isso, não só destroçaram a universidade crítica dos anos 60, como destroçaram as universidades clássicas que havia no Brasil. Em cima dessa universidade é que foi se acoplando mudanças que, em escala mundial, a universidade sofreu. Então, essa primeira universidade da ditadura chamo de “universidade funcional”. Quer dizer, ela cumpre duas funções: pacifica a classe média e funciona para o mercado de trabalho. A etapa seguinte, que é a etapa dos anos 80, chamo de “universidade dos resultados”. É aquela universidade que, com a estrutura que nela foi colocada, deve mostrar que é produtiva. Em primeiro lugar, é preciso dividir as universidades em dois tipos – as chamadas centros de excelência, o caso da USP, e as chamadas alinhadas, isto é, as que fazem a opção preferencial pelo pobre, aquelas que fazem efetivamente vínculo com os movimentos sociais. As universidades alinhadas são consideradas o baixo clero improdutivo. JOSÉ ARBEX JR. - A PUC seria o quê, nesse caso? Está entre os centros de excelência. MARINA AMARAL - Quais são as alinhadas? As federais. Então, nos centros de excelência,
\177_
#11_ Marlena Chaui
a produtividade é medida pelo número de publicações, pelo número de orientados na pós-graduação, pelo número de cursos de extensão. Bom, dá aquele rolo que vocês todos conhecem, de fazer aquela lista dos improdutivos, que é uma brincadeira. JOSÉ ARBEX JR. - José Goldemberg... O caso é: consagrou-se a ideia de separar as universidades alinhadas improdutivas e as universidades excelentes, e, dentro das excelentes ,dividir em “universidade 1” e “universidade 2”. Universidade 1, USP e Unicamp. A Universidade 1 forma as elites, na pesquisa e no mercado. A 2 forma docentes e prepara estudantes para a pós-graduação nas universidades 1. Qual é o sentido dessa brincadeira? É a distribuição dos recursos. Então, para as alinhadas não vai nada, para as excelentes vai tudo, só que vai menos para as excelentes 2 e mais para as excelentes 1. JOSÉ ARBEX JR. - Esse sistema de classificação é formal ou informal? Ah, é informal. Aparece apenas na avaliação da produção, ninguém fala isso. MARINA AMARAL - Nem nos centros de excelência? Não, isso é a linguagem política do processo. A linguagem formal do processo é “produtivo” e “improdutivo”, e tem a classificação. Você é classificado em A, B, C e D. Essa classificação vai para as graduações, para as pós-graduações, determina a distribuição de bolsas, determina auxílios para colóquios, congressos, publicações, enfim, e para infraestrutura de pesquisa. Então, você tem um controle da produção desses critérios inteiramente abstratos e quantitativos da produtividade. Bom, esse modelo se sobrepõe ao modelo anterior, que permaneceu como um resto. Em cima disso, veio a universidade de re-
_178/
18 entrevistas _ revista caros amigos
sultados, agora como segundo extrato arqueológico, e sobre ela vem o que eu chamo a “universidade operacional”. O termo operacional não é meu, é de um autor canadense chamado Freitag, que escreveu um livro chamado Naufrágio da Universidade. Universidade operacional é aquela que realiza ou concretiza as virtualidades da universidade funcional e da universidade de resultados. Como ela faz isso? Tomando a universidade como uma organização social, isto é, como uma administração ou uma gestão de recursos, e a sua distribuição sob a forma de contratos universitários. E a ênfase recai sobre o vínculo entre produtividade e especialização. Considera-se que a produtividade aumenta com o aumento do grau de especialização, que é típico da noção de organização, na medida que uma organização sempre tem um problema local com um objetivo particular, uma meta, que ela vai resolver. Então, se consolida um processo de fragmentação, de hierarquização da qualidade e de hierarquização dos recursos. E isso, do ponto de vista do contrato de gestão, recebe o nome de autonomia. A autonomia não é o poder da universidade para se autodirigir e decidir currículos, avaliações etc. Não tem nada a ver com o processo acadêmico. A autonomia se refere à liberdade para encontrar formas convenientes de gestão dos recursos quanto à operacionalidade, se ela tem de dar resultados e ser funcional, precisa ter um referencial. Ela é operacional para quem? É dito que para o desenvolvimento econômico do país, isto é, ela é operacional para as empresas. E, portanto, são as empresas que vão julgar isso, porque elas vão despejar recursos através de convênios e de fundações privadas. Ao mesmo tempo, isso produz um problema. É que os currículos não estão em consonância com essa demanda empresarial. Então, para estabelecer a consonância do currículo com a demanda empresarial, se introduz uma nova terminologia que se chama “flexibilização”. En-
tão, você flexibiliza o currículo, altera o currículo para responder à demanda. E depois, como tudo isso tem de ter o parâmetro da avaliação, fala-se na “qualidade total” da produção. Acontece que determinadas universidades que têm um certo padrão de trabalho e que conseguiram sobreviver com esse padrão de funcionalidade e no resultado, desaparecerão se elas se tornarem organizacionais, que é o caso da USP. MARINA AMARAL - Por quê? Porque ela vai esfacelar o trabalho que realiza. O que se propõe como corretivo? Interdisciplinaridade. Você tem o que um companheiro meu chamava de uma faca de dois legumes, que é a produtividade estar vinculada à especialização, mas a qualidade estar vinculada à interdisciplinaridade. Aí você tem uma proposta perfeitamente esquizofrênica. Agora, vamos sobrepor a isso a consonância, a sintonia fina, a harmonia que há entre o MEC e o pensamento do Banco Mundial e do BID para a reforma universitária. WAGNER NABUCO - Isso é um projeto interno? Interno. Ele não vem de fora. O que vem de fora é um diagnóstico das universidades brasileiras, e dito o que não é aceitável para haver investimento. Mas como é feito o diagnóstico, quem fornece os dados do diagnóstico? Nós, porque para fazer o diagnóstico, o Banco Mundial e o BID têm de ter gente aqui que pensa daquele jeito. Então, não é que não venham um pacote do Banco Mundial e um do BID, vêm, mas eles não são um pacote vindo de fora. Eles são produzidos conosco mesmo, somos nós que produzimos o diagnóstico, e a parte dos bancos consiste em dizer: “Bom, diante desse diagnóstico, não invisto se houver isto, isto e isto. E invisto se houver isto, isto e isto. Virem-se”. Como o pensamento é único, como eles pensam todos da mesma maneira, o que acontece? O Banco Mundial diz: “Investimento público maciço tem de ir para
Considera-se que a produtividade aumenta com o aumento do grau de especialização, que é típico da noção de organização, na medida que uma organização sempre tem um problema local com um objetivo particular, uma meta, que ela vai resolver. Então, se consolida um processo de fragmentação, de hierarquização da qualidade e de hierarquização dos recursos. E isso, do ponto de vista do contrato de gestão, recebe o nome de autonomia. A autonomia não é o poder da universidade para se autodirigir e decidir currículos, avaliações etc. Não tem nada a ver com o processo acadêmico. A autonomia se refere à liberdade para encontrar formas convenientes de gestão dos recursos quanto à operacionalidade, se ela tem de dar resultados e ser funcional, precisa ter um referencial. Ela é operacional para quem? \179_
#11_ Marlena Chaui
primeiro e segundo graus. Virem-se, mas é lá”. Resposta do governo: municipalização e o Fundão. Há um novo desmonte do primeiro e segundo graus – que agora se chamam “fundamental” e “médio” – e ao mesmo tempo há a afirmação de que a prioridade está lá, e que a prova dessa prioridade é a municipalização e a existência do fundo. E evidentemente prova-se a tal prioridade com todas as ações de superfície: pintar os prédios, colocar computador, coisas desse tipo. Do lado da universidade, o diagnóstico veio do BID. O BID faz o diagnóstico e no rodapé está: “Dados vindos de... Dados vindos de...”. Então os dados vão todos daqui. WAGNER NABUCO - E esse diagnóstico é um papel, é um documento? É um documento do BID sobre o ensino superior na América Latina e no Caribe. O diagnóstico usa dois critérios: custo/benefício e a existência ou não de um sistema de punição e recompensa. Na análise de custo/benefício, o diagnóstico é a inoperância das universidades da AL e do Caribe. E, na análise de recompensa e punição, o diagnóstico é: laxismo, falta de um sistema rigoroso de recompensa e punição. Bom, intermediando a discussão do custo/benefício e da recompensa/punição, é feita, vamos dizer, uma avaliação dos principais problemas que são: a evasão, o arcaísmo dos currículos do ensino superior e o gasto excessivo com pessoal. É muito interessante. No documento, os problemas aparecem como se fossem dados da natureza. Tem um vulcão, maremoto, ciclone e a evasão (risos). Não tem causa, não tem origem, não tem sociedade, não tem nada, tem a evasão. Então, a evasão, o gasto excessivo com professores e funcionários sem investimento em infraestrutura, currículos obsoletos, inoperância na gestão das verbas. E na punição/recompensa, há frouxidão nos critérios de avaliação. Bom, depois tem a proposta. Então, o ensino superior é dividido
_180/
18 entrevistas _ revista caros amigos
em quatro – eles falam “funções” –, em quatro funções. A formação de elite na pesquisa e para o Estado, a grande escola profissional, o curso técnico, e o que eles chamam de liberal arts, ou o generalista. A formação de elite é feita através de cursos de graduação, de pós-graduação e de centros de pesquisa, investimento exclusivamente público, a fundo perdido, avaliação pelos pares, só. O diagnóstico é que a América Latina e o Caribe são completamente deficitários nisso e que é preciso fazer esse investimento. Se corrigidos os problemas de gestão, certo? Depois, o profissional que é a tradição, direito, medicina, engenharia, arquitetura, e novas profissões também. Aqui há graduação, a pós-graduação é opcional e o financiamento deve ser misto, uma parte privado, uma parte público. A análise também é de que a América Latina é deficitária e obsoleta nisso. A função técnica ou o curso superior técnico é um curso de graduação de curta duração, ou seja, se uma graduação dura quatro anos, o curso técnico deve durar dois. Ele está diretamente vinculado à demanda do mercado e deve ser financiado privadamente. E, depois, tem o generalista, que é um curso superior com disciplinas gerais e currículo feito pelo interessado, o qual pode estar fazendo outros cursos, ou não ter feito nenhum, e tem um diploma de curso superior montando um currículo de várias disciplinas interessantes. A função desse curso é o que eles chamam de “aditar valor” ao currículo. Ou seja, na competição do mercado de trabalho, você faz esse curso e aumenta o valor competitivo do currículo. E essa proposta está a caminho. FRANCISCO ALEMBERT - E como entram os intelectuais, formados pela universidade pública, que estão aí? Eles pensam da mesma maneira. Aquela fala curiosa do Fernando Henrique: “Eu não vou privatizar o ensino superior porque ninguém quer
A dependência tem o famoso banquinho de três pés: o capital estrangeiro, a burguesia nacional e o Estado. Você tem uma teoria sobre a América Latina, sobre a dependência, na qual a classe trabalhadora nunca entrou. Ela não faz parte do contexto da sociedade, não faz parte da história, não existe. Ela não entra nem sequer numa nota de rodapé. Você tem uma teoria completa sobre o país, e sobre a região, que exclui a classe trabalhadora. pagar os custos”. E depois explicou: “Não, isso tem de ser investimento de longo prazo...”. É a descrição que o BID faz da formação de elites. Aquela fala é a descrição palmar do BID para a formação de elites, que tem de ser exclusivamente com dinheiro público. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Quando a senhora estava deixando a Secretaria de Cultura, o Maluf indicou o Rodolfo Konder como secretário. Nesse dia a entrevistei no rádio e disse: “Como a gente se surpreende, professora, a gente que esteve do mesmo lado com várias pessoas...”. E a senhora respondeu no ar: “Nós fomos enganados, fomos iludidos porque eles sempre estiveram daquele lado e a gente não soube perceber isso”. Essa mesma resposta se aplica agora? Se aplica. Se você pegar o texto da teoria da dependência, está tudo lá. Como é montada a explicação através da teoria da dependência? A dependência tem o famoso banquinho de três
pés: o capital estrangeiro, a burguesia nacional e o Estado. Você tem uma teoria sobre a América Latina, sobre a dependência, na qual a classe trabalhadora nunca entrou. Ela não faz parte do contexto da sociedade, não faz parte da história, não existe. Ela não entra nem sequer numa nota de rodapé. Você tem uma teoria completa sobre o país, e sobre a região, que exclui a classe trabalhadora. Então, não acho que precisa esquecer o que foi escrito. Precisa é ler melhor o que foi escrito. Tem uma tese do Fernando Henrique sobre a escravidão na região meridional, na qual o escravo é dito inconsciente, alienado, passivo, tem lá o senhor de escravo, o escravo nunca. E tem todos os estudos contemporâneos feitos sobre a escravidão que mostram o escravo como sujeito histórico. Mas está lá, sempre esteve lá. WAGNER NABUCO - Porque se leu tanto tempo pensando que aquilo era uma coisa... Porque aconteceu com o meio intelectual o mesmo que aconteceu inicialmente com o PT. Dada a existência de um inimigo comum de poder descomunal, todos que estiverem contra esse inimigo comum estão do mesmo lado, pensam da mesma maneira, vão ao mesmo barco. E é só no instante em que a figura desse inimigo se dissolve e que os caminhos se traçam que você percebe que as diferenças são profundas. JOSÉ ARBEX JR. - Professora, mas não dá para falar isso do Francisco Weffort, por exemplo. Não, o Weffort para mim é um mistério. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - E qual é o seu choque, a sua perplexidade, a senhora que ficou de braço dado no portão, com a sua barriga lá, na Maria Antônia, a senhora citou os nomes, Fernando Henrique entre eles, e de repente vê isso? É que acompanhei um percurso muito mais lon-
\181_
#11_ Marlena Chaui
go, pontuado por uma história, e, no interior dessa história, já havia os sinais. E mais: a minha surpresa não é tanto que ele fale na terceira via, estou me preparando, lendo tudo o que posso sobre a terceira via. Não é tanto pelo fato de ele se considerar parceiro do Tony Blair e do Clinton, cada um se vê como quer. A surpresa para mim, e me manifestei publicamente, foi a aliança com o PFL. Porque uma coisa é você explicar a história do país sem explicar a classe operária, explicar a história da escravidão sem colocar o escravo, achar que há uma terceira via que não é a esquerda nem a direita, até aí dá, você acompanha uma lógica de pensamento. O que não dá é que essa personalidade e esse grupo em volta dessa personalidade comecem a aceitar governar com Marco Maciel, com Antônio Carlos Magalhães, com Inocêncio, com Renan Calheiros, isso me deixa não angustiada, me deixa... SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - É aquela ânsia de vômito da senhora quando entrou no Masp... Isso mesmo. Me deixa indignada. Fico indignada que ele se preste a fazer para a direita o serviço que a direita faria sozinha, não precisava dele para fazer isso. JOSÉ ARBEX JR. - Ele faz melhor. Não é que ele faz melhor, ele dá dignidade e colorido à direita. A direita, que é o que pensávamos dela, de repente se ergue com dignidade política, que ela não tem, não merece ter e não pode ter. Eu diria que sou capaz de entender a criação do PSDB, de entender a candidatura à presidência da República, mas não sou capaz de entender a aliança com o PFL. JOSÉ ARBEX JR. - Professora, uma coisa que me chocou muito foi o episódio Pinochet, que não produziu nenhuma reação visível na USP. Existe uma certa letargia por parte dos professores da USP?
_182/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Então, você tem a hegemonia neoliberal, a hegemonia pós-moderna, o primeiro momento do Plano Real e o mercado como destino. E uma despolitização geral da sociedade brasileira e, portanto, uma despolitização da universidade. Ora, o que acontece? O que está acontecendo agora é que, a partir de um determinado momento, os fatos falam mais alto que as ideias, sejamos marxistas. Os fatos começam a falar mais alto do que o pensamento, e a pessoas começam a perceber que algo vai mal. Eu penso o seguinte: o governo Fernando Henrique, por todas essas coisas que eu disse há pouco e pela situação em que se encontram as esquerdas, faz um governo que opera sem oposição que, ao envolver – através da moeda – no nível da superfície aquilo que num primeiro momento era para uma parte da população o mais grave, e para uma outra estar convencida de que era o mais grave, que é a inflação, despolitizou a sociedade brasileira. Você tem uma esquerda que se esfacelou e se desorganizou, uma população que sentiu os efeitos da diminuição da inflação e uma classe média consumista que pode ir para o exterior comprar gadgets. Então, a aparência que o país nos deu é que o seu magno problema estava resolvido e que, resolvido isso, os outros problemas seriam resolvidos também desde que se deixasse
o governo trabalhar. Em seguida, com a história da Previdência, o governo desarticulou setores inteiros, produzindo as aposentadorias etc. Setores organizados que se desorganizaram na corrida da aposentadoria. Depois, de uma maneira mais sofisticada, convenceu a população brasileira de que o MST era, primeiro, arcaico, e, segundo, violento e perigoso para a paz. Então investiu o MST da origem da violência e produziu para o país – que desde que apareceu tem sonho de ser moderno – a imagem de que a única coisa moderna do país era arcaica. Então, ele neutralizou perante a opinião pública aquilo que poderia gerar outros movimentos. Isso é a primeira coisa, que é o conjunto de ações governamentais, no caso da esquerda. No caso específico da USP, nos seus postos dirigentes, ela é ou claramente de extrema direita ou é liberal progressista. E ela é majoritariamente, nessas esferas, pefelista, pepebista ou PSDB. Ela entrou em consonância com o governo. As associações de docentes, as associações estudantis, por causa da situação de esfacelamento das esquerdas e dos movimentos sociais, se esfacelaram também. E, dado o problema das aposentadorias e o problema do arrocho salarial, a Adusp se concentrou na questão salarial. E, na medida em que ela se concentrou na questão salarial, deixou num segundo plano as outras questões. Houve um conjunto de prioridades imediatas que obscureceram a questão principal. E tem o que aconteceu com a cabeça do aluno. Um aluno me procurou há pouco tempo e me disse o seguinte: “Professora, eu quero que a filosofia seja valorizada na sociedade, quero que a filosofia seja respeitada. Então, vou fazer um projeto e a senhora avalia para mim, qual desses dois caminhos é o melhor: abro um consultório de filosofia clínica ou vou fazer assessoria ética para as empresas?”. (risos) Eu fiquei completamente imobilizada (risos) porque na cabeça
desse jovem estudante, o mercado é a ratio última, o mercado é o destino... JOSÉ ARBEX JR. - Filosofia clínica? Tem no mundo inteiro. É uma coisa que veio da Holanda. Então, você tem a hegemonia neoliberal, a hegemonia pós-moderna, o primeiro momento do Plano Real e o mercado como destino. E uma despolitização geral da sociedade brasileira e, portanto, uma despolitização da universidade. Ora, o que acontece? O que está acontecendo agora é que, a partir de um determinado momento, os fatos falam mais alto que as ideias, sejamos marxistas. Os fatos começam a falar mais alto do que o pensamento, e a pessoas começam a perceber que algo vai mal. Então, o meu otimismo vem daí, da força dos fatos. E as pessoas começaram a se mexer. É uma unanimidade que se quebra, a popularidade que cai, a reforma, a percepção do que significa a reforma no caso do ensino, os desempregados, então a sociedade começa a se mexer. Vai demorar para você ter uma reorganização. Vai demorar para haver um novo projeto de oposição e um projeto de esquerda, mas ele vem vindo, ele vem vindo. MARINA AMARAL - Antes de encerrar, acho que falta ser citada uma pessoa nesta conversa, que é a dona Ruth Cardoso, até por ser uma mulher universitária. Olha, não vou falar nada, não vou falar nada (risos). Por puro “corporativismo”. Não vou falar nada porque ela é mulher. Só vou dizer que tinha uma enorme esperança de que ela quebrasse a tradição monárquica da primeira-dama, e num primeiro momento ela fez isso. Eu apostava muito em que ela dissesse: “Primeira-dama não é lugar de uma mulher”. Agora, a gente não sabe quais foram as circunstâncias nas quais ela não pôde fazer isso, então... Se eu não tenho nenhuma peia na língua para falar do Fernando Henrique, tenho pudor para falar da Ruth.
\183_
_184/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#12_ Miguel Nicolelis _
Maio de 2008
A ciência pode ser um agente de transformação social Dois momentos ficaram marcados na trajetória do cientista brasileiro Miguel Nicolelis. O primeiro, em 2008, foi quando a macaca de um laboratório nos EUA conseguiu fazer um robô andar, no Japão, com a “força do pensamento”. No segundo, em 2014, na abertura da Copa do Brasil, um paciente paraplégico com um exoesqueleto controlado pelo cérebro chutou uma bola, dando a largada para o campeonato e para infinitas possibilidades na área. Pelo feito, chegou a ser considerado o destaque científico e, ao mesmo tempo, o fracasso do ano. Mas Nicolelis está acostumado a não ser unanimidade. Professor da Universidade Duke (EUA) e do Instituto Internacional de Neurociências de Natal permanece firme no propósito de mudar paradigmas, tanto no fazer científico como no uso da ciência para democratizar o conhecimento e fazer dele instrumento de transformação social. Alvo frequente de ataques por suas posições à esquerda, travou batalhas verbais com articulistas da grande mídia que se dedicaram a desconstruir sua reputação e diminuir a importância de suas pesquisas. Enfrentou oposição na própria equipe e a investigação iniciada a partir de denúncia de um ex-companheiro de laboratório acabou por adiar mais uma vez a concretização do Campus do Cérebro, no interior do Rio Grande do Norte. Em fevereiro de 2016, o projeto Andar de Novo contava perto de 20 pacientes e 80% mostravam recuperação motora e sensorial, segundo Nicolelis. O trabalho, em fase de revisão, deve ser apresentado em um ano e meio. Esperanças renovadas para um futuro que está sendo feito agora. E no Brasil.
O paulistano Miguel Nicolelis nasceu em 7 de março de 1961. Pioneiro no estudo da interface cérebro-máquina, começou suas pesquisas em 1991 nos EUA e, em 2014, apresentou ao mundo um exoesqueleto movimentado a partir de sinais cerebrais. Com posições de esquerda, lançou em 2010 o Manifesto da Ciência Tropical. Nele, defende a democratização da ciência para a transformação social e econômica. É considerado pela revista Scientific American um dos vinte maiores cientistas do mundo na primeira década do século 21. ENTREVISTADORES Camila Martins Michaella Pivetti Moriti Neto Vinícius Souto Léo Arcoverde João de Barros Thiago Domenici Roberto Manera Mylton Severiano Marcos Zibordi
\185_
#12_ Miguel Nicolelis
THIAGO DOMENICI - Vou fazer uma provocação: o senhor acredita em Deus? Não. O único divino que eu acredito é o Ademir da Guia (craque do Palmeiras nos anos 1960-70, apelidado de Divino pela crônica esportiva). Aliás, tenho uma ótima relação com Deus: ele não acredita em mim e eu não acredito nele. THIAGO DOMENICI - Posto isso, vamos à infância. Foi excelente. Nasci na Bela Vista, na parte do Bixiga, mas a família mudou para Moema e cresci lá. Nossa grande diversão era ver avião pousar em Congonhas. MARCOS ZIBORDI - Você é filho único? Tenho uma irmã. Tem um monte de carcamano na família de descendência italiana e grega. Meu pai, Angelo Brasil Nicolelis, é juiz aposentado, e minha mãe é escritora, Giselda Laporta Nicolelis. Na literatura infantil é conhecida, razão pela qual fui embora do Brasil, senão seria o filho da Giselda o resto da vida. MARCOS ZIBORDI - Estudou em colégio público? Estudei no primeiro colégio de Moema. Depois, no Bandeirantes. JOÃO DE BARROS - O que te chamou atenção na biologia? No Bandeirantes, comecei a tomar contato com essa visão humanista da biologia, entender a razão pela qual a gente é o que é, de onde a gente veio, tomar contato com a teoria da evolução, perceber que existe uma beleza – é pena que a palavra milagre já foi ocupada por outra “empresa”, mas é fascinante poder descobrir a riqueza e complexidade das coisas e o fato de ser inteligível e explicável. E o Bandeirantes tinha laboratórios raros. Você podia fazer alguma coisa que não estava no script. Aí percebi que ciência é o melhor emprego que existe, pagam você para ser moleque, experimentar, se divertir.
_186/
18 entrevistas _ revista caros amigos
MYLTON SEVERIANO - Na infância, a questão de Deus não existia? A família era muito religiosa, mas minha avó, grande inspiradora intelectual, dona Ligia Maria, era uma agnóstica em dúvida. JOÃO DE BARROS - Você fez primeira comunhão? Foi um trauma. Foi no dia em que o Palmeiras ia disputar o título com o São Paulo, em 1971, e foi roubado no gol do Leivinha, de cabeça. O Armando Marques anulou o gol. Era para eu ir ao jogo, e minha mãe entre Deus e o Palmeiras: aí a ruptura foi clara com Deus. Se existe o ser que criou tudo, não vai ser benevolente para deixar um moleque de dez anos assistir ao jogo do Palmeiras? MYLTON SEVERIANO - Quando você foi para o curso superior? Entrei na faculdade para ser neurocirurgião e descobri que era mais ou menos trabalhar com encanamento o resto da vida – coisa fundamental, quando você quiser um neurocirurgião, o cara tem que ser bom, mas não era para mim. Percebi que era possível fazer o que fazia no Bandeirantes profissionalmente. VINÍCIUS SOUTO - Algum professor teve papel importante? Vários, mas o que me inspirou é o fundador da neurociência brasileira, Cesar Timo-Iaria, um cientista humanista. JOÃO DE BARROS - Como se dá esse confronto, do cientista humanista com o “de resultado”? A ciência hoje é um grande negócio, atividade extremamente competitiva. Mas ainda mantém esse fascínio de dar a chance de perseguir o desconhecido, no meu caso, tentar entender o que o cérebro faz, que é a grande fronteira da biologia hoje. MARCOS ZIBORDI - Era esse confronto que você tinha na faculdade?
No Bandeirantes, comecei a tomar contato com essa visão humanista da biologia, entender a razão pela qual a gente é o que é, de onde a gente veio. é fascinante poder descobrir a riqueza e complexidade das coisas e o fato de ser inteligível e explicável. A universidade brasileira ainda vive da hierarquia, da hipótese, de que quem está à frente da classe sabe mais. E ainda não permite um canal de desafio. O que aprendi muito nos EUA é que, se você está dando uma aula, o menino do colegial que está na universidade fala que você está falando besteira: “Não é assim, é x, y, z”. Você tem que parar de falar “tem razão”. Esse canal de comunicação bilateral não existia aqui. Ainda vivemos do saber da autoridade. MYLTON SEVERIANO - É cultural? Cultural, o “professor-doutor”. Pelo título, assume-se que você é autoridade naquela área, mas nem sempre era verdade. Muitos chegaram a posições de altíssimo destaque. MYLTON SEVERIANO - Aquele que acabou com Manguinhos: Rocha Lagoa? Não conheço. Manguinhos é a resistência da ciência nacional. Maravilhosa. A gente não conhece o patrimônio científico do Brasil. THIAGO DOMENICI - Como o quê? Pouca gente conhece o Carlos Chagas, e o trabalho dele é um dos poucos exemplos da história da infectologia em que o cara descobriu a doença, o agente e o vetor. É raro encontrar um pesquisador que conseguiu ir atrás de todos os passos de uma doença que na América do Sul e na África é importante.
CAMILA MARTINS - Não se reconhece o brasileiro por quê? Não temos a cultura da ação científica como patrimônio do país. Todo mundo conhece Machado de Assis, artistas, jogadores, economistas. Não faz parte do nosso ethos enquanto cultura brasileira delinear o que a inteligência criou na ciência. O Santos Dumont é o maior cientista que o Brasil já criou, o maior neurocientista, o maior inventor. E nunca foi para a escola. Então foi quase que repudiado nos livros da história da ciência brasileira porque nunca teve diploma. MYLTON SEVERIANO - Você falou Santos Dumont neurocientista? Sim, um experimento que fiz recentemente demonstrou que ele estava certo. Foi sem querer, ele fez de propósito. Ele tinha um problema claro. Tinha vários controles que precisava comandar, a inclinação da asa, ele inventou estabilizador vertical, horizontal, o flape. Só que não existia botão e luzinha para dizer “isso aqui não está funcionando, puxa esta alavanca”. Só existia polia, corda e alavanca. Mas o número de alavancas era grande para ele dar conta. Então, em certos aviões dele, ele amarrava as cordas no terno, de maneira que, se mexesse pedaços do corpo, corrigia erros de elevação. Percebeu que incorporava o avião. Percebeu algo que nós demonstramos três anos atrás. MYLTON SEVERIANO - Isso tem a ver com o McLuhan, que fala da extensão do corpo? Exato. Nós demonstramos que o cérebro assimila as ferramentas que usamos diariamente. Sempre uso o exemplo do jogador de tênis. Para o cérebro, a raquete, depois de anos de prática, deixa de ser uma ferramenta para ser uma extensão do braço. Então, para os mapas que temos dentro do cérebro, que definem quem nós somos, aquele braço agora tem dois metros de comprimento e termina num oval. O San-
\187_
#12_ Miguel Nicolelis
tos Dumont percebeu isso empiricamente. O pessoal olhava e via um cara se contorcendo, achava que ele estava tendo uma crise epilética, mas, na realidade, ele estava usando o corpo – o avião era um pedaço dele. Escrevi uma vez uma pequena história dele, “o homem que virou avião’’. ROBERTO MANERA - O cérebro dele substituiria o radar de navegação? O cérebro dele era um giroscópio. Ele tinha uma noção de espaço rara. Existem áreas do nosso cérebro que codificam onde estamos. Uma delas, o hipocampo, que, a cada momento que a gente está navegando, mapeia onde a gente está, para onde está se dirigindo, quais as coordenadas. Esse é meu grande debate filosófico com meus colegas hoje. Todo mundo pensa o cérebro como um órgão que interpreta o mundo. Acredito que o cérebro cria o modelo do mundo, e ele só confirma ou nega esse modelo continuamente. Essas são duas escolas que estão batendo de frente. Como bom palmeirense, gosto de dizer que estamos começando a ganhar o jogo. Levou cem anos para as pessoas acreditarem que o cérebro tem um ponto de vista interno, dele, próprio, criado ao longo da nossa vida. Cada um de nós cria esse modelo do mundo. MARCOS ZIBORDI - Seria mais forte que predisposição genética? A genética nos dá um arcabouço, o começo de cada um de nós é mais ou menos o mesmo, o cérebro define quem cada um de nós é. Acredito que ele gera um modelo, tanto que, se você perde uma mão, o braço, durante muito tempo, quase noventa por cento dos pacientes desenvolvem um fenômeno chamado “membro fantasma”, pior do que as pessoas comentam, porque 80 por cento têm o membro doloroso – sentem dor numa parte que não existe mais.
_188/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Foi a doutrina durante o século 20 do sistema nervoso: ele decompõe o sinal e analisa em detalhe a grandeza física que recebeu. Quando a gente começou a olhar em cérebros despertos em animais, e agora em cérebros humanos, começou a ver que o cérebro já está computando um monte de coisa antes mesmo de você mandar aquele sinal. Ele já criou uma expectativa do que você vai fazer, ou do que vai acontecer daqui a cem milissegundos, duzentos. E, na minha visão, ele está só, basicamente, testando essa hipótese. Se é de acordo com o modelo, reage de maneira tranquila. Se não tem nada a ver com o que ele estava pensando, gera um sinal de alerta.
THIAGO DOMENICI - Dentro dessa briga de escolas, o que mostra que vocês estão ganhando o jogo? Os estudos com robôs. Começamos em 2003 e temos publicado trabalhos que confirmam os experimentos originais, e agora outras pessoas reproduziram nosso achado. Demonstramos que, se você puser o cérebro no controle de um membro artificial, uma prótese mecânica, mesmo a quatro mil quilômetros de distância, mas, se conseguir fazer aquele braço se mexer em 200 milissegundos, que é o tempo que leva para o cérebro mexer o braço biológico, e, se o braço mecânico fizer o movimento, o que o cérebro quiser que ele faça, o cérebro assimila aquele braço como uma parte do corpo. Então, mostramos as células do cérebro se dividindo fisiologicamente, funcionalmente, a sua fidelidade funcional se dividindo entre os dois braços fisiológicos e o novo braço robótico como se o animal tivesse ganhado um terceiro braço. MYLTON SEVERIANO - Isso foi feito com animais. Foi feito com macacos e agora temos evidências que acontece em seres humanos. MARCOS ZIBORDI - Vocês não chegaram a testar em humanos? Não. Nós publicamos um trabalho em 2004 com parkinsonianos que estavam sendo operados e criamos um eletrodo. Quando você está operando o cérebro de alguém, é treinado pelo ouvido, você ouve o cérebro, as células, que se comunicam com eletricidade; mas cada célula produz um som peculiar, cada região do cérebro tem um som. Pouca gente sabe. A gente aprende a saber onde “está” no cérebro, não só pelas coordenadas tridimensionais, mas pelo som. Se tiver um som de pipoca estalando, eu talvez te diga que lugar do cérebro é porque passei 20 anos ouvindo. MICHAELLA PIVETTI - O cérebro tem visão de mundo?
Minha teoria é que, ao longo do desenvolvimento, você vai mapeando a estatística do mundo ao redor, sua interação com o mundo. Essa estatística vai sendo incorporada no cérebro de tal maneira que cria um modelo de realidade. Por exemplo, você tem um paciente esquizofrênico e certas coisas acontecem no cérebro, esse modelo de realidade sai de foco. O paciente tem alucinações, pensa que o estão perseguindo, ouve sons. Se você examinar o cérebro dele, vai ver que o córtex auditivo, por exemplo, está sendo ativado sem ter nenhum som. Está vindo de dentro dele. Estou desenvolvendo essa teoria, explicando quais princípios regem a criação de um modelo interno do cérebro sobre o mundo. É como olhar o mundo do ponto de vista do cérebro, esse é nosso embate. Por exemplo, você quer entender meu cérebro. O que faz? Manda um sinal, visual, tátil, auditivo, meu cérebro interpreta, você mede aqui de fora como é que reagiu, mas esse é o seu ponto de vista, de quem está tentando entender aqui de fora como funciona. Se você pegar um animal ou um ser humano anestesiado e fizer o que falei, o cérebro te dá uma resposta – o que levou um monte de gente a pensar que o cérebro é só um decodificador de sinais. Foi a doutrina durante o século 20 do sistema nervoso: ele decompõe o sinal e analisa em detalhe a grandeza física que recebeu. Quando a gente começou a olhar em cérebros despertos em animais, e agora em cérebros humanos, começou a ver que o cérebro já está computando um monte de coisa antes mesmo de você mandar aquele sinal. Ele já criou uma expectativa do que você vai fazer, ou do que vai acontecer daqui a cem milissegundos, duzentos. E, na minha visão, ele está só, basicamente, testando essa hipótese. Se é de acordo com o modelo, reage de maneira tranquila. Se não tem nada a ver com o que ele estava pensando, gera um sinal de alerta. O doutor Cesar trabalhou nisso, um sinal de alerta que fala “opa, tenho que atualizar o modelo porque a minha hipótese não foi...”
\189_
#12_ Miguel Nicolelis
MYLTON SEVERIANO - Mais explicadamente, vamos dizer, eu falo “Fulano, me passa...” e ele me dá os óculos, mas não eram os óculos... É que 70 milhões de vezes antes você já pediu esses óculos. O cérebro é um agente ativo, não é um decodificador passivo. Ele não é um computador. É um criador da realidade, da sua realidade. Você pode ver o Palmeiras trucidar o São Paulo e achar que foi uma injustiça, eu vou achar que foi... MARCOS ZIBORDI - Deus? Exato. É que nem CPI da Tapioca, o cara compra uma tapioca e os caras acham que ele anexou a Bolívia. Criam uma celeuma. MARCOS ZIBORDI - O funcionamento é o tempo todo? Mesmo quando você está dormindo, sonhando, uma fase importantíssima. Nós temos vários trabalhos, outros grupos, sugerindo que suas memórias estão sendo consolidadas durante o sonho, sendo reprogramadas. Mesmo no sono, o cérebro está processando informação. MICHAELLA PIVETTI - Uma noite sem dormir, perde-se memória? Nós estudamos hoje se adquirir informação antes de dormir é melhor do que adquirir e não dormir. As crianças vão à escola às seis, sete da manhã. Quem disse que esse é o melhor horário para aprender? Uma série de estudos diz que, para alguns, é o pior horário. MYLTON SEVERIANO - O Brizola falava que precisava cuidar do cérebro da criança até os seis anos, depois disso “queima o computador”. É mesmo? É um período crítico. Por isso na nossa escola, acho que é uma das primeiras do mundo, o currículo começa intraútero. Estamos trazendo as grávidas para a escola, em Natal, em Macaíba.
_190/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Um número razoável é adolescente, e a criança quando nascer já vai entrar no currículo, vai ser vista como um ser integral. Um aprendizado fundamental para criar um ser crítico, consciente, que consiga exercer seu potencial mental na plenitude, começa intraútero. LÉO ARCOVERDE - E por que você foi para os Estados Unidos? Fui para os EUA em 1989. Terminei meu doutorado e queria fazer algo que aqui não existia, e não existia lá. Mas um cara, uma coincidência, tinha posto anúncio na revista Science procurando uma pessoa para fazer exatamente o que eu queria: registrar grandes populações de neurônios. Os astrônomos têm uma analogia disso. A astronomia nasceu com um telescópio. O cara olhava para uma estrela. Nos anos 1960, se percebeu que você podia estudar o universo não só com luz no espectro visual, mas galáxias, estrelas, medindo fontes de ondas de rádio do universo. Estava a ler sobre isso e perguntei para o Cesar por que a gente não podia fazer isso em neurociência. Em vez de olhar um neurônio de cada vez, criar uma matriz e ver centenas de eletrodos simultaneamente. O Cesar falou: “Aqui não tem jeito, mas deve ter algum doido pensando nisso nos Estados Unidos”. Lendo uma Science, onde põem anúncios para recrutar cientistas, tinha um cara na Filadélfia pedindo exatamente o que eu tinha, a ideia. Só que era falso, ele tinha posto porque queria dar o greencard (visto de permanência) para um coreano que trabalhava no laboratório dele. Criou o anúncio mais maluco, e o único cara que “apareceu” foi o coreano. Mas eu mandei uma carta de 20 páginas explicando meu plano e acabei com a alegria do coreano. Cheguei no escritório do John Chapin, meu amigo até hoje, ele disse: “Puxa, nunca imaginei que alguém ia mandar um plano desse; na realidade, esse anúncio era furado”. E eu fui para a Filadélfia.
MYLTON SEVERIANO - Mas por que não era possível examinar grupos de neurônios? Tecnologicamente existiam problemas e resistência conceitual da comunidade. MYLTON SEVERIANO - Essa recusa não é ideológica? Não, era do medo do diferente. A ciência também é conservadora. MYLTON SEVERIANO - Então é ideológico, não? De certa maneira, sim. A resposta do cara era: “Será que precisamos de tecnologia da era espacial para estudar o cérebro?”. E a nossa resposta foi: “Sim”. E o cara ficou uma fera, não ganhamos um tostão. JOÃO DE BARROS - Por que se batia tanto nessa de estudar um neurônio só? Porque neurônio é considerado – outra coisa que está mudando – classicamente como a unidade funcional do cérebro. No fígado, é o hepatócito; no rim, o nefron; no osso, é o osteócito, a teoria celular... MYLTON SEVERIANO - Uma visão burocrática? Era um dogma, acentuado porque o pai da neurociência, um espanhol, um gênio, Santiago Ramón y Cajal, Prêmio Nobel em 1906 (fisiologia e medicina), demonstrou que o cérebro é formado por células separadas por um espaço muito restrito, não como o coração onde as células estão interligadas eletrotonicamente. Isso foi um troço. Ele criou a Teoria Celular do Cérebro. Só que, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto que uma célula no cérebro é que nem um dado que você joga. Num dado, dá para ter de um até seis. A célula é um ou zero: ou dispara ou não dispara. Mas ela é um elemento estatístico. Um neurônio não define nenhum comportamento por si só. O cérebro é uma democracia, precisa de um grande número de votos estatísticos – são
Nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto que uma célula no cérebro é que nem um dado que você joga. Num dado dá para ter de um até seis. A célula é um ou zero: ou dispara ou não dispara. Mas ela é um elemento estatístico. Um neurônio não define nenhum comportamento por si só. meio ruidosos – para criar um comportamento determinístico. Isso durante muito tempo foi difícil de ser assimilado na comunidade neurocientífica. Tenho batido de frente há quase 15 anos sugerindo que a unidade funcional do cérebro não é o neurônio, mas uma população de neurônios, que num momento vota por uma decisão e depois eles se dissociam. MYLTON SEVERIANO - São 12 bilhões mesmo? Na estimativa mais moderna, são 100 bilhões, mas é mais. Tem tanto neurônio no cérebro como estrelas no universo. É um universo. Que vem do cérebro mesmo. É a poeira das estrelas que gerou ele. O universo é um ovo, começa com pó, big bang, aí todos os átomos se espalharam e calhou de o estádio do Parque Antártica se convergir numa coisa chamada cérebro. O ovo fechou o ciclo. Demorou um pouquinho, não? 15 bilhões de anos. Ele provavelmente obedece a princípios próximos. Esse reconciliar nunca foi feito. As pazes entre de onde a gente veio e para onde vai, enquanto espécie, nunca se fizeram. E agora estamos começando a olhar para o cérebro de maneira mais holística, mais completa e não só com uma célula, outra célula... MARCOS ZIBORDI - Qual foi o avanço que nos permitiu dar esse salto?
\191_
#12_ Miguel Nicolelis
O grande avanço foi a criação dessas matrizes de eletrodos num laboratório do John Chapin. Filamentos do diâmetro de fio de cabelo, flexíveis, que você consegue inserir no cérebro sem que danifique. Eles ficam lá, por meses. A ponta fica do lado de várias células e cada ponta registra as correntes elétricas que vêm de cada uma dessas células. MARCOS ZIBORDI - Dá para pôr? Eu já pus 760 na cabeça de um macaco. Aí é o lado neurocirúrgico. É fácil. Você abre, mas as aberturas são pequenas craniotomias e só entram dois milímetros no cérebro. Isso devo muito à faculdade. A destreza manual de fazer isso é rara nas faculdades americanas. É um treinamento motor muito bom aqui. O segundo foi: “Bom, você tem um terabyte a cada meia hora, como você faz?”. Como pôs isso em matrizes de computadores? Tem um supercomputador analisando o cérebro, os sinais que vêm, e aí como você analisa esses dados? Não havia ferramentas matemáticas para olhar uma matriz de dados elétricos do cérebro. THIAGO DOMENICI – Vocês criaram um software? É, adaptamos métodos estatísticos. Por quê? Tinha um prêmio Nobel, Simon Davi Silber, que dizia que, se ele precisava de estatística para ver um fenômeno neurofisiológico, o fenômeno não existia. Ele simplesmente não acreditava em estatística. É uma formação muito dogmática do ponto de vista biológico puro – ou é branco ou é preto. E o que a gente propôs foi: vamos olhar o cérebro como uma máquina estatística, e não como a gente olhou durante cem anos. E começou a dar resultado, a gente começou a prever em tempos reais o que o ratinho estava pensando, coisa simples. E a boa ideia foi essa. Dez anos atrás, estávamos eu e o John na periferia da Filadélfia, comendo um sanduíche típico, cheese steak, num bar de caminhoneiro, falando
_192/
18 entrevistas _ revista caros amigos
de cérebro de rato; os caras olhando para nós, e tivemos a ideia de ligar o cérebro a um robô. Provamos do ponto de vista quantitativo que, se a nossa teoria tinha algum mérito, aquele bicho ia conseguir pensar, nós íamos conseguir ler o pensamento e fazer um robô se mexer. Quer dizer, estávamos pegando um sinal do jeito que é produzido e criando um modelo que tentava imitar o que o cérebro faz, para fazer o movimento de um braço artificial ser o mesmo do braço biológico. Foi aí que nós criamos essa interface cérebro-máquina. CAMILA MARTINS - Isso também é inteligência artificial? A inteligência artificial é classicamente uma tentativa de reproduzir as decisões humanas num nível mais cognitivo, um nível mais alto. Nós estamos indo lá embaixo, no sinal elétrico mesmo, e tentando gerar coisas que gerem movimento, ou como nós acabamos de fazer, mas não publicamos ainda: mandar mensagens de volta para o cérebro e ver se o cérebro entende, conversar com ele. A minha macaca favorita é a Aurora. Eu dizia que estamos começando a conversar com a Aurora, mas não verbalmente. Nós estávamos mandando um sinal para o cérebro e esperando que ela respondesse se entendeu ou não o que a gente quis dizer. Recentemente, dois macacos responderam que entenderam comportamentalmente. THIAGO DOMENICI - Mas como? O macaco está no escuro, tem duas portas; uma tem uma fruta, outra porta não tem nada. Nós mandamos a mensagem “a fruta está na porta direita”, ele foi lá e abriu; a outra, “a fruta está na porta esquerda”, foi lá, a fruta não está, ele ficou quieto. Começamos a perceber que a mensagem estava sendo decifrada. ROBERTO MANERA - Mas em que linguagem?
Freud criou uma visão da mente com outros estados de consciência não verbais e não facilmente acessíveis. Uma hipótese que ainda está em aberto. Se Freud aparecesse hoje numa convenção, seria um “neurocientista computacional”, um formulador de teorias ou de hipóteses que gente como eu ia levantar e falar “muito bonito, mas cadê o dado?”. Eletricidade. É um padrão de pulsos elétricos que variam no tempo e no espaço. Um padrão chamado espaço temporal. ROBERTO MANERA - Estão conseguindo provar que meu cachorro, por exemplo, é mais inteligente que o Maluf, como acho que é? Esse experimento eu não realizei. O cachorro tem um grau de inteligência e de consciência. A gente não sabe qual é o horizonte dessa consciência, mas ele provavelmente tem mais senso de humanidade do que certas figuras. ROBERTO MANERA - À luz da neurociência moderna, Freud descobriu ou inventou o inconsciente? Tenho dúvidas, mas ele formulou uma hipótese de diferentes estados de consciência, é chocante. Até então, o que se debatia não era a consciência “consciente”, era a verbal e a lógica. Ele criou uma visão da mente com outros estados de consciência não verbais e não facilmente acessíveis. Uma hipótese que ainda está em aberto. Se Freud aparecesse hoje numa convenção, seria um “neurocientista computacional”, um formulador de teorias ou de hipóteses que gente como eu, experimentalista, ia levantar e falar “muito bonito, mas cadê o dado?”.
THIAGO DOMENICI - O que você está pesquisando pressupõe que quadriplégicos possam voltar a ter movimentos? A hipótese é: o problema do quadriplégico é que o cérebro continua produzindo comando motor, só que o sinal não consegue chegar aos músculos porque houve uma interrupção das vias de comunicação. O que fizemos foi demonstrar o princípio de que se pode criar um desvio, pegar o sinal direto do cérebro, usar um chip para decodificar e mandar para um braço mecânico, que teria como finalidade reproduzir a intenção motora da pessoa – como o braço faria se pudesse se mexer. Num primeiro momento, a gente usa uma prótese mecânica para demonstrar o conceito e estamos chegando muito fácil numa demonstração clínica convincente. Ao mesmo tempo, descobrimos que, em vez de usar a prótese, podemos revestir o corpo com algo que a gente chama de exoesqueleto: um robô que se veste, com motores, sensores, e fazer o cérebro controlar esse exoesqueleto; daí você vai “carregar” o corpo. É como criar um besouro. O besouro é uma carapaça que se mexe com um corpo todo molenga dentro. Vou ter um corpo paralisado, sendo carregado por esse exoesqueleto que será controlado diretamente pelo cérebro. Não só permitiria que a pessoa retomasse os movimentos, mas forneceria uma terapia para as partes paralisadas, osso, massa muscular, porque você vai gerar movimento e tentar reverter um pouco da atonia e da atrofia. E, em longo prazo, se funcionar, o passo final é devolver esses sinais que vêm do cérebro para a maquinaria biológica sem o exoesqueleto. Aí é difícil, no momento é complicado. Inventamos uma prótese de locomoção em que o cérebro do macaco na Carolina do Norte comandou um robô no Japão em tempo real. O robô andou de acordo com o comando que veio do cérebro do macaco e mandou de volta os sinais das pernas andando.
\193_
#12_ Miguel Nicolelis
MYLTON SEVERIANO - Quer dizer que isso que vocês estão fazendo já está obsoleto? Na nossa cabeça já está. Mas isso levou dez anos. E, nos próximos dez, vamos demonstrar os dois primeiros: fazer gente recobrar a mobilidade com a prótese e com o exoesqueleto. Mas a ciência é muito não linear. Sempre aparece um louco que tem uma ideia e acelera. LÉO ARCOVERDE - Quando surgiu a história do instituto? Sempre tive a ideia de voltar e fazer alguma coisa no Brasil. Era preciso demonstrar que alguém podia fazer ciência fora e trazer de volta. Comecei a ir para o Nordeste. Tinha a sensação que até o impacto era necessário para demonstrar para o Brasil quão fundamental a ciência é para o desenvolvimento não só econômico, mas principalmente educacional e social – os exemplos da Coreia, Taiwan. O que mudou esses países foi o redirecionamento do processo educacional. Era preciso ir para um lugar onde cientista nenhum iria e provar que o talento científico brasileiro existe em qualquer lugar, no Capão Redondo como em Macaíba. O que não existe é oportunidade para esse talento aflorar. Quer dizer, você não oferece ao potencial humano brasileiro nem o método nem as oportunidades para que o método seja aplicado. Para que as pessoas possam perseguir sua imaginação, porque ciência é isso, é ter uma ideia, achar que vai funcionar e ir atrás. Daí que você vê quem é cientista – não é diploma, não é passar na banca, não é ter título. É o cara que tem uma ideia criativa, aplica métodos rigorosos para testar e que persiste. Noventa por cento da ciência é persistência. VINÍCIUS SOUTO - Como o pessoal de fora enxerga sua experiência no Brasil? O pessoal está atônito. Quando apresentei o projeto de Natal em Davos, na Suíça, em janeiro, foi curioso. Estava do lado de colunistas, um
_194/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu me tornei mais brasileiro vivendo fora daqui. E acho inconcebível que nossas crianças cresçam sem apreciar a diferença entre patriotismo barato e verdadeiro amor pelo Brasil. Têm direito ao acesso à informação legítima, honesta e limpa. Para saber que país é, quais são os problemas, mas quais são as maravilhas do Brasil... deles famoso aqui, ouvindo gente falar do Brasil o tempo inteiro. Ia no computador na manhã seguinte, abria os jornais de São Paulo e ninguém falava nada. Vi um economista argentino falar bem do Brasil, chorando, emocionado: “É um exemplo, é um país que está dando um show”. No dia seguinte, não tinha uma palavra. No meu dia, vou falar sobre um projeto educacional, mostrei: “A ciência não é só para ser feita em universidade, ficar em prédio fechado, é para se abrir para o mundo”. Tinha acabado de sair uma carta que assinei com o presidente. Primeira vez que um presidente de qualquer país assinou um editorial na Scientific American. MYLTON SEVERIANO - Quem? O Lula? É. Não saiu em lugar nenhum. Estava na capa da maior revista de ciência do mundo, o presidente, o ministro da Educação, se comprometendo a levar o currículo de educação científica infantojuvenil desenvolvido em Natal para um milhão de crianças brasileiras. Mostrei as crianças montando robô, usando telescópio, medindo lua de Júpiter.
MYLTON SEVERIANO - Lá em Natal? Em Macaíba, na periferia de Natal. Foi um choque. Mas só fora daqui saiu nos jornais. Saiu na Scientific American, na Science, na Nature, nas grandes revistas do mundo. ROBERTO MANERA - Qual é a parte da grande imprensa nisso? Ah, omissão. Cheguei à conclusão que hoje no Brasil é difícil falar bem do Brasil. Existe uma cultura de confundir o país com quem está no governo. E a gente não pode contar boas notícias. É uma coisa meio assustadora, não consigo entender. MYLTON SEVERIANO - Porque o presidente não é doutor? Pode ser. Mas acho que o buraco é mais embaixo: não podia dar certo. O governo dele tinha de ser o pior da história do Brasil. E, se você analisar os fatos friamente e objetivamente, não é. Se você passar duas semanas no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, é outro Brasil. A gente respira aquele país que, quando eu era criança, me diziam que nunca seria possível se fazer (nesse momento, Nicolelis chora). E é chocante, você só consegue falar sobre isso fora daqui. O Brasil, de certa maneira, carrega hoje a responsabilidade de ser uma das poucas boas esperanças no mundo. De preservar seu ambiente, construir um país honesto, que cresça não à custa de outro, mas à custa do seu próprio trabalho, um país que tem uma democracia explodindo, não? Eu coloquei na minha porta na Universidade de Duke: 95 milhões de votos contados em quatro horas. Qualquer semelhança é pura coincidência. Eu me tornei mais brasileiro vivendo fora daqui. E acho inconcebível que nossas crianças cresçam sem apreciar a diferença entre patriotismo barato e verdadeiro amor pelo Brasil. Têm direito ao acesso à informação legítima, honesta e limpa. Para saber que país é, quais são os problemas, mas quais são as mara-
vilhas do Brasil... (chora novamente). Tem duas piadas que me deixam possesso. Uma é quando alguém fala, aqui, que “isto é coisa de primeiro mundo”. Que primeiro mundo? E a segunda é que “Deus criou esse maravilhoso país, mas deixa ver o povinho que vou pôr lá”. É o ranço do coronelismo. É inserir no genoma nacional o complexo de inferioridade. O Santos Dumont não pensou que não era do primeiro mundo quando voou, não pensou no “povinho”. Ele foi e fez. E acho que o que nós não sabemos é que existem milhões de outros Brasis que estão se fazendo. Está lá em Resende, em Lages, no Seridó, no sertão da Paraíba, em Soares, em lugares que a gente nem considera como parte da gente. E aqui nós não apreciamos isso. THIAGO DOMENICI - Quando você mostrou o projeto ao Lula? Foi genial. Estávamos no meu escritório, na minha casa, assistindo televisão, na Carolina do Norte. Vejo o discurso de vitória de um cara que conheci rapidamente, que veio da miséria e virou presidente do Brasil, e está anunciando que quer construir outro país. Virei pro Sidarta, cientista meu amigo: “É agora”. Escrevemos, fizemos contato. Em 2002. Vim em março de 2003 e fui me encontrar com ele em 2004. Declarei a intenção de criar o projeto no lugar em que cientista nenhum iria e, se funcionasse em Macaíba iria funcionar em qualquer lugar. Trouxe 40 neurocientistas do mundo inteiro para Natal, para o simpósio que inaugurou a ideia, em fevereiro de 2004. Recebi um convite para ver o presidente. Foi emocionante, tinha dado carona para ele uma vez, no sindicato dos médicos. Quer dizer, um cara que contei piada do Palmeiras e do Corinthians era presidente da República. E ele mandou todo mundo sair da sala, me deu um abraço e disse: “Vai em frente que eu estou aqui.” (chora novamente). E nós fomos em frente.
\195_
#12_ Miguel Nicolelis
MYLTON SEVERIANO - Governo federal, estadual e municipal, você tem apoio? O maior apoio foi do governo federal, mas o mais relevante é que a gente não só conseguiu construir isso, como conseguimos pegar mil crianças da rede pública, de escolas que as pessoas não davam esperança alguma, colocar em um ambiente de laboratório, de liberdade, de criatividade e mostrar para elas que o céu era o limite. E quando vim falar com certas pessoas aqui em São Paulo, falaram: “Não vai sair nada”. THIAGO DOMENICI - Pessoas do governo? Não, cientistas: “Você está louco, não tem massa crítica, não vai sair do lugar”. E hoje você vê criança que antes queria ser jogador de futebol dizer que quer ser químico. Estão montando robô, outro programando chip aos 12 anos. VINÍCIUS SOUTO - Quais as principais características? O projeto tem um centro de pesquisa onde começamos a trazer brasileiros que estavam fora, neurocientistas, como o Sidarta. Jovens que estavam fora ou pelo Brasil sem conseguir penetrar no sistema acadêmico público. Levamos pra lá e o núcleo Coração, um centro de pesquisa ligado com centros de ponta do mundo inteiro. Em volta, criamos o projeto educacional e um centro de saúde de atendimento à mulher e à criança, para gestação de alto risco, câncer da mulher, e problemas de neuropediatria. Agora estamos construindo um Campus do Cérebro para cinco mil crianças, tempo integral. É essa que vai começar desde a gravidez, o instituto propriamente dito, e vamos começar ações de integração com a comunidade. Queremos criar um polo de desenvolvimento industrial, tecnológico, biotecnologia, porque o semiárido é o único bioma naturalmente brasileiro. Ninguém tem algo como a caatinga, e nós não nos devotamos nem em prosa, nem em verso, nem em orçamen-
_196/
18 entrevistas _ revista caros amigos
to suficiente para estudar isso. Precisa ir lá, tirar foto, conversar com o povo. Isso ninguém quer fazer porque dá trabalho. MARCOS ZIBORDI - Quanto custa uma coisa dessa? Esse projeto custo muito dinheiro. Até agora, com tudo que arrecadamos fora, setenta por cento é privado: doações, contratos de pesquisa. A Duke University me deu um contrato, doou equipamento, dinheiro. Está mudando o perfil do lugar. O Campus do Cérebro vai custar 42 milhões de reais. Só que os dinheiros não estão todos aqui, mas estão empenhados. LÉO ARCOVERDE - E os educadores? Recrutamos professores formados pelas universidades do Nordeste e fizemos um retreinamento. Agora, estamos trazendo professores da rede pública a participar dos laboratórios. O primeiro sinal que o projeto estava funcionando é que os professores da rede pública começaram a comentar que estava até criando problema na escola. “Seus alunos fazem muita pergunta”... Essas crianças têm perguntas que desafiam gente experimentada. Ensinar é isso, essa troca. MYLTON SEVERIANO - Mas voltando ao Brizola, que falou que se até seis anos não formar, o “computador” queima, essa criança tem chance mesmo “queimada”? Tem. Existe uma coisa que chama plasticidade cerebral. O exemplo que uso é o Garrincha. Tinha um joelho olhando para outro, passou fome, teve deformidades ósseas e distúrbios neurológicos, certamente faltou proteína para o cérebro. O controle motor do Garrincha ninguém discute, haja vista o beque da União Soviética na Copa de 1958. O ditado “cachorro velho não aprende truque novo” não é verdade. O cérebro consegue, principalmente na primeira infância, se adaptar a condições adversas. Os circuitos se rearranjam. Agora, esse primeiro período dos seis anos, ou
três, é vital, é o momento no qual você tem que ter o aporte nutricional e o educacional. MARCOS ZIBORDI - Imagino que o instituto é mais um mundo mágico. Uma menina, quando o presidente foi visitar, ele perguntou: “O que você acha dessa escola?”. A menina: “Que escola?”. “Essa aqui”, e a menina: “Não, isso aqui não é escola, não, é parque de diversões”. JOÃO DE BARROS - Esses pesquisadores já estão estudando? Estão estudando modelos de doença de Parkinson, coisas relacionadas à neurofisiologia do sono, o que o cérebro faz quando a gente vai dormir. A codificação neural, como o sistema nervoso codifica informação. Estudamos o que está na agenda da neurociência mundial. Natal está ligada a vários institutos do mundo. Em julho, vamos ter a primeira escola de altos estudos de neurociência do Brasil. Vinte e oito neurocientistas do mundo inteiro vão passar de quatro a oito semanas dando aula por teleconferência para todos os alunos de neurociência do Brasil, de pós-graduação, a partir de Natal. MARCOS ZIBORDI - A comunidade científica criticou sua proposta, como se você estivesse descredibilizando a neurociência brasileira. Nunca me preocupei com isso. Sou cria do pai da neurociência brasileira. Seria impossível, a não ser que eu perdesse o lóbulo pré-frontal, me esquecer de onde vim. Prova maior é que voltei, não precisava voltar. Esse negócio que não tem dinheiro, dinheiro tem, é só ir atrás e fazer algo que justifique o dinheiro. A única pessoa que levantou questões, quando interpelada para provar, fugiu da rinha. E tudo o que veio a público aqui foi feito de maneira aberta. O governo federal foi simpático à nossa causa? Claro. Por que não poderia ser?
Criamos o projeto educacional e um centro de saúde de atendimento à mulher e à criança, para gestação de alto risco, câncer da mulher, e problemas de neuropediatria. Agora, estamos construindo um Campus do Cérebro para cinco mil crianças, tempo integral. É essa que vai começar desde a gravidez, o instituto propriamente dito, e vamos começar ações de integração com a comunidade. Queremos criar um polo de desenvolvimento industrial, tecnológico, biotecnologia, porque o semiárido é o único bioma naturalmente brasileiro. Ninguém tem algo como a caatinga, e nós não nos devotamos nem em prosa, nem em verso, nem em orçamento suficiente para estudar isso. Precisa ir lá, tirar foto, conversar com o povo. Isso ninguém quer fazer porque dá trabalho.
\197_
#12_ Miguel Nicolelis
MARCOS ZIBORDI - Uma das ações do instituto foi patrocinada pela Agência de Projeto de Defesa dos Estados Unidos. Por que achei estranho? Porque não existe isso no Brasil. As próteses que comecei a criar podem ser uma terapia para pessoas quadriplégicas ou paraplégicas. Com o crescimento do número de veteranos de guerra com lesões na medula espinhal por causa da guerra, o Departamento de Defesa criou uma verba de pesquisa para gerar novas terapias. E estamos conseguindo. Vai ser anunciado um braço robótico para pacientes que perderam membros superiores que vai ser implantado no ombro deles, comandado pelo sistema nervoso com técnicas que a gente fez. E, quando assino esse barato, está claro e explícito que jamais trabalharia em qualquer linha que não fosse de reabilitação médica. MARCOS ZIBORDI - Se nós temos tanta dificuldade para patrocinar pesquisa, o que o senhor acha do fato de não se conferir o resultado final? Como funciona fora daqui? Se você terminar um projeto de cinco anos e não produzir trabalhos publicados em grandes revistas e com um selo de aprovação, sua carreira acabou. A seleção natural lá é grande. Que é um dos problemas aqui: se financia tudo. Se falta dinheiro, teria que ter uma visão um pouco mais crítica. O que vamos financiar? Qual é nossa visão estratégica de ciência? O que o Brasil precisa? O que queremos desenvolver da inteligência nacional? Ciência é hoje uma questão de soberania nacional, uma questão estratégica da humanidade e uma contribuinte vital para a preservação da democracia no mundo. Porque, se não ajudar a produzir comida, novas formas de energia, de curar doenças, a espécie acaba. A ciência está no vértice das decisões. O Brasil precisa de uma nova cultura universitária. Tem que abrir as portas das universidades para o Brasil. Precisa de uma nova visão acadêmica.
_198/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Tudo isso tem que passar por uma discussão, e a sociedade precisa fazer essa discussão munida do conhecimento da informação. A ciência é uma questão estratégica, só que não recebe do ponto de vista político a devida relevância. A questão das células embrionárias não é religiosa, uma questão técnica, também estratégica. MORITI NETO - O governo George Bush é ultraconservador. A comunidade científica enfrentou dificuldade? Estou há 20 anos nos Estados Unidos. É o período mais difícil e opressor que já passei na América. Você sente que não tem liberdade de manifestar sua opinião. E sinto que o Brasil caminha seriamente para impor restrições na nossa vida cotidiana que vêm de uma posição religiosa dogmática. Nos Estados Unidos, é pior, a ponto de certos professores serem repreendidos por falar em Darwin no departamento de biologia. THIAGO DOMENICI - Como você encara ser considerado o cientista brasileiro vivo mais importante e um dos 20 mais importantes do mundo, que podem ganhar o Nobel? É difícil comentar isso. O Brasil merecia vários Nobéis. O Carlos Chagas, Santos Dumont podia ter ganhado o de física. Isso não quer dizer que não ficaria feliz se um brasileiro ganhasse o Nobel. VINICIUS SOUTO - Como você enxerga essas crianças que estudam no instituto daqui a alguns anos? Sempre falo para eles que são embriões de um exército de sonhadores. A noção de que você pode sonhar alto, como Santos Dumont sonhou. Minha esperança é essa. JOÃO DE BARROS - Que cientistas brasileiros você admira? Tive o privilégio de ver Mário Schenberg fa-
O Brasil precisa de uma nova cultura universitária. Precisa de uma nova visão acadêmica. Tudo isso tem que passar por uma discussão, e a sociedade precisa fazer essa discussão munida do conhecimento da informação. A ciência é uma questão estratégica, só que não recebe do ponto de vista político a devida relevância. lar. Era brilhante, aquele raciocínio abstrato, tentar explicar o que é o universo, a matéria. O doutor Cesar, você chegava na aula de neurociência e estava tocando a abertura de uma ópera qualquer – ele considerava compor uma ópera o exercício mais profundo, uma tempestade elétrica. MARCOS ZIBORDI - O gol de bicicleta também. Depende de quem faça. Se fosse o Leivinha... A Nature me pediu um dia para escrever. É aquilo que você espera a tua vida inteira. O editor da Nature telefonar: “Dá para você escrever uma revisão para nós?”. O mundo para, o filho pode cair da escada, cachorro pode ficar sem comida. MYLTON SEVERIANO - O que é uma revisão? É um artigo que não é só baseado em dados que você coletou, mas na sua opinião. Você tem uma chance ou duas na vida de uma revista dessas pedir sua impressão. Ele queria que eu explicasse como as teorias do cérebro se inseriam nessa questão que eu sempre falava em meus trabalhos, de libertar o cérebro do corpo para ele controlar a distância um membro artificial. Ele disse: “Você precisa de um parágrafo que resuma toda a dimensão do que o cérebro é capaz
de fazer. Daqui uma semana, mande só o primeiro parágrafo, para eu saber se você consegue escrever o troço.” Olha o que fiz: descrevi sob o ponto de vista de uma criança, que era eu, assistindo televisão, o primeiro gol do Pelé contra a Itália na Copa do México em 1970. O Tostão cobrando o lateral, o Rivelino levantando a bola, a torcida já levantando atrás do gol, porque eles já tinham visto mil vezes quando a bola sobe para a área e “o cara” levanta, não tem jeito! A expressão de dor que tem no filme, de frente para o gol italiano: o Albertozzi torcendo toda a face, porque sabe que não tem jeito. E o Facchetti, um cara grandão, levanta só para cumprir com o dever, porque “o homem” já vinha correndo. Descrevi isso do ponto de vista do cérebro. A coordenação da visão vendo a bola no ar rarefeito da Cidade do México, a torcida já celebrando, a bola entrando e o mundo explodindo. Eu tinha nove anos e ouvi um troço explodindo lá fora. E para o resto da minha vida, gol era uma explosão, porque meu cérebro associou a imagem do gol com o som dos fogos de artifício por toda a cidade. Liguei para o editor: “Olha, modifique o que quiser, mas o primeiro parágrafo é inegociável”. Esse editor me manda um e-mail assim: “Eu lembro desse gol”. O trabalho estava aceito! MYLTON SEVERIANO - O senhor vai repatriar outros cientistas, não? Sim, parte do projeto Natal é repatriar os cérebros. O Brasil tem 11 mil cientistas no exterior. São 30 anos de gente indo embora. Mas eu não acredito que o voltar ou existir seja necessariamente só físico. Fui fisicamente porque me disseram que não tinha futuro aqui, entendeu? Fui embora, mas o Brasil nunca foi embora de mim. Acho que para muita gente que está fora, que foi e aprendeu algo, algo genial, que poderia voltar a ajudar o país, o que a gente precisava é falar “volta, vem pra cá! Está na hora de construir o Brasil”.
\199_
_200/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#13_ Milton Santos _
Agosto de 1998
Mestre Milton Quando ainda era menino, no sertão baiano, Milton Santos observava impressionado o que ele definiria, já adulto e geógrafo respeitado, a “noção do movimento”: “Ver as pessoas se movendo, as mercadorias, as coisas se movendo...”. Pelo menos seis décadas dividem este primeiro flerte com a geografia e o livro A Natureza do Espaço, de 1996, no qual faz “uma reconstrução da teoria social”, levando em conta os novos dados trazidos pelo processo de globalização. Um trabalho pioneiro sobre o papel ativo do espaço geográfico e do tempo em que se vive na dinâmica social. Também da juventude, no ginásio, veio outra grande influência, ao ser apresentado pelo livro Geografia Humana à ideia de Josué de Castro do “homem capaz de, frente ao meio, mostrar-se forte e modificá-lo”. “Essa vontade de oferecer uma interpretação não conformista, isso cala no espírito do menino e do jovem”, afirmou à Caros Amigos em agosto de 1998. Igualmente não conformista, participou de movimentos estudantis de esquerda e, em 1961, correspondente do jornal A Tarde, acabou com o nome nos registros dos órgãos de segurança após viajar a Cuba com a comitiva de Jânio Quadros. Preso em 1964, partiu para um exílio que acabaria durando 13 anos. Foi nesse período que começou a se debruçar sobre as feições urbanas dos países do Terceiro Mundo, importante foco de seus trabalhos na volta ao Brasil, em 1977.
Milton Almeida dos Santos nasceu em Brotas de Macaúbas (BA) em 3 de maio de 1926 e morreu em São Paulo em 24 de junho de 2001. Revolucionou a geografia ao estudar a urbanização no Terceiro Mundo, além de antecipar conceitos e se debruçar sobre a análise crítica da globalização e suas relações com o capital. Foi preso e partiu para o exílio após o golpe de 64. Doutor honoris causa por doze universidades brasileiras e sete estrangeiras, foi o primeiro geógrafo da América Latina a ganhar o prêmio VautrinLud, o "Nobel” da geografia. ENTREVISTADORES Marina Amaral Sério Pinto de Almeida Leo Gilson Ribeiro Georges Bourdoukan Roberto Freire João Noro Sérgio de Souza
Ao ser provocado, ainda na mesma entrevista à Caros Amigos - “Mas o senhor pensa, diz o que pensa, e incomoda as pessoas...” -, responde, Milton Santos: “O papel do intelectual é esse”.
\201_
#13_ Milton Santos
SÉRGIO DE SOUZA - Professor, usualmente, pedimos ao convidado que comece falando sobre a sua origem, seu caminho inicial. Não tenho muita simpatia por essa forma de começar. Primeiro, por achar que é um pouco estilo americano (risos). Segundo, porque obriga a gente a ficar nu (risos), o que pode ser perigoso. Sou baiano, venho de uma família de professores do lado materno. Meu avô e minha avó eram professores primários, mesmo antes da abolição. Do lado paterno, devem ter sido escravos, não sei muito bem, porque em minha casa me ensinaram a olhar mais para a frente do que para trás. Meu pai também acabou sendo professor primário, de modo que nasci numa família que – antes da criação do que se chama classe média – era uma família remediada, humilde, mas não pobre, e que tentou me dar uma educação para mandar, para ser um homem que pudesse, dentro da sociedade existente na Bahia, conversar com todo mundo. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Em Salvador? Em Salvador. Quer dizer, nasci no sertão, porque naquele tempo tinha que ir chegando devagar para a capital. Nasci no sertão por acaso, porque estavam lá meus pais, ensinando em Brotas de Macaúbas. Aos oito anos, terminei o meu primário em casa, nunca segui uma escola primária. E, como para ir para o ginásio tinha de esperar dois anos, meus pais ficaram me ensinando álgebra, francês e boas maneiras. Aos dez anos, fui ser aluno interno num colégio na capital da Bahia. Naquele tempo, havia talvez seis cidades que tinham ginásio em todo o Estado. LEO GILSON RIBEIRO - Internato religioso? Não, leigo, frequentado por uma classe média média. Daí, lá mesmo, comecei a ensinar, antes de ir para a faculdade. Morei nesse colégio dez anos – quando terminei, continuei morando lá, ensinando, e fui para a faculdade de direito,
_202/
18 entrevistas _ revista caros amigos
da qual saí formado há exatamente cinquenta anos, em 1948. Fui aluno forte em matemática, mas havia uma notícia generalizada de que a Escola Politécnica não tinha muito gosto em acolher negros, então fui aconselhado fortemente pela família – tinha um tio advogado – a estudar direito, e daí mudei para a geografia, que comecei a ensinar desde os 15 anos. LEO GILSON RIBEIRO - O preconceito era tão forte assim a ponto de haver uma divisão de escolas? Havia essa ideia. Na realidade, alguns negros conseguiram entrar, mas havia a crença na sociedade baiana, na sociedade negra em particular, de que os obstáculos na Politécnica eram maiores. E, como eu ia estudar direito, deixei de lado a matemática, mas ela não me deixou, porque, quando a gente aprende bem alguma coisa, aquilo fica. E passei para a geografia, que acabou sendo a minha atividade central. Terminada a faculdade de direito, onde os meus professores, todos, de um lado empregavam os filhos e de outro nos diziam que não devíamos ser funcionários públicos porque era feio ser funcionário público, me levaram a acreditar nisso, e decidi fazer concurso para professor secundário. Naquele tempo, professor não era funcionário, não se comportava como funcionário, queria ser intelectual. Isso acabou, mas naquele tempo era assim. Aí fui ser professor secundário em Ilhéus, que era a cidade mais promissora. LEO GILSON RIBEIRO - Cacau... Tinha o cacau. Eu era mais bem pago do que se estivesse na capital. Fiquei lá alguns anos, já escrevendo no jornal, porque o dono do A Tarde, o ministro Simões Filho, me havia descoberto e me levou a ser correspondente do jornal em toda a região do cacau. Aí comecei a escrever. Pouco depois, fui para Salvador, onde continuei ensinando no ginásio e comecei a ensinar na Universidade Católica, me preparando para entrar na
Desde menino, a noção de movimento me impressionava. Ver as pessoas se movendo, as mercadorias se movendo. A noção de movimento de ideias veio depois, mas a das mercadorias, das coisas, das pessoas talvez tenha me levado para a geografia. universidade pública federal, onde fiz concurso em 1960, depois de terminar meu doutorado em geografia na França. LEO GILSON RIBEIRO - O que levou o senhor à geografia era mais o conhecimento físico da geografia ou sociológico? Sociológico. Desde menino, a noção de movimento me impressionava. Ver as pessoas se movendo, as mercadorias se movendo. A noção de movimento de ideias veio depois, mas a das mercadorias, das coisas, das pessoas talvez tenha me levado para a geografia. Também um fato, e muito importante, no ginásio, o livro de texto era o Geografia Humana, de José de Castro. Era uma espécie de história contada através do uso do planeta pelo homem. Aquilo me impressionou. Eu tinha tido um professor muito importante, também, Oswaldo Imbassay. Então a confluência de um professor importante, de um livro importante, as explicações do mundo e como a sociedade se relacionava com o meio, a teoria do possibilismo, determinismo. Tudo isso a gente aprendia no segundo, terceiro ano de ginásio. Era ao mesmo tempo um debate filosófico sobre o destino do homem, a presença do homem na Terra e o seu destino, e a história do mundo se fazendo através da produção do espaço geográfico. LEO GILSON RIBEIRO - Mas havia também uma
configuração ideológica, de como a sociedade estava estruturada do ponto de vista econômico, social? O Josué imprimia isso, porque tomava partido claramente pela noção do possibilismo, quer dizer, o homem capaz de, frente ao meio, mostrar-se forte e modificá-lo. Toda a teoria de Josué, que nunca teve no Brasil um reconhecimento cabal, porque os geógrafos oficiais não gostavam muito dele. Outra coisa importante no Josué era o domínio da palavra, a elaboração do discurso, que é a forma de chegar mais adiante. ROBERTO FREIRE - Mas tudo acabou... Acabou, e a geografia aparecia em tudo isso. E aparecia juntamente com a filosofia, a psicologia. Meu professor foi Herbert Parente Fortes, impressionante figura, grande professor, sobretudo porque não dava muita aula, e um grande professor não pode dar muita aula, tem de dar algumas aulas que marquem os seus alunos. Era o caso dele. Então, toda essa confluência, história da filosofia, lógica, história da literatura, história das ideias e econômicas etc. que a gente aprendia antes de ir para a faculdade, isso constituiu um embasamento à humanidade de então, que, me levando para a faculdade de direito, me ajudou no apego à geografia. GEORGES BOURDOUKAN - O livro Geografia da Fome também o influenciou? Muito. Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Esse, vamos dizer assim, aprendizado da generosidade que aparece em Josué de Castro, e essa vontade de oferecer uma interpretação não conformista. Isso cala no espírito do menino e do jovem. Essa vontade de buscar outra coisa. Acho que ele teve sobre mim uma influência extremamente grande. LEO GILSON RIBEIRO - Era, digamos assim, precocemente uma visão terceiro-mundista?
\203_
#13_ Milton Santos
Claramente terceiro-mundista. E outra coisa que ele introduziu na literatura foi a ideia, a noção de consumo, que vai aparecer mais tarde com outras roupas. Ele dividia as pessoas em função de consumir ou não consumir comida, e que tipo de comida. Chegava até a dizer a diferença de quem comia trigo, quem comia milho... (risos) Acho que o Josué foi um gênio. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Professor, a observação que o senhor fez, do jovem, o menino olhando o movimento das pessoas, das mercadorias, e depois essa riqueza da escola pública, que certamente não há mais, já não começa a surgir aí o seu interesse muito mais do que pela geografia, o movimento, a coisa técnica, mas pelo embate ideológico, com as leituras do Josué? (pausa) Quer dizer, parei um pouco porque é a reinterpretação do que nos aconteceu. As provocações são boas, porque às vezes a gente nem se deu conta de como as coisas nos aconteceram. Eu imaginava que a minha posição progressista, entre aspas, tivesse chegado muito mais tarde. Agora, estou vendo, pela sua pergunta, que não foi bem assim. Na faculdade da Bahia, como na maior parte das faculdades de direito, o ensino era extremamente conducente a uma aproximação liberal do mundo. Então acho que deve ter havido certo curto-circuito na ocasião, somado a aspectos biográficos. Quer dizer, quando criei a Associação de Estudos Secundaristas Brasileiros na Bahia, os meus amigos do Partido Comunista se opuseram à minha eleição para presidente. O medo deles era que não seria conveniente que um negro fosse presidente de uma associação tão importante, porque ele iria ter dificuldade de discutir com as autoridades (risos). E eu, menino, tolo e inexperiente, acabei perdendo a eleição. Possivelmente, isso teve um efeito, quer dizer, eu na faculdade de direito, cercado de gente da elite baiana, com vontade
_204/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Quando criei a Associação de Estudos Secundaristas Brasileiros na Bahia, os meus amigos do Partido Comunista se opuseram à minha eleição para presidente. O medo deles era que não seria conveniente que um negro fosse presidente de uma associação tão importante, porque ele iria ter dificuldade de discutir com as autoridades (risos). E eu, menino, tolo e inexperiente, acabei perdendo a eleição. Possivelmente, isso teve um efeito, quer dizer, eu na faculdade de direito, cercado de gente da elite baiana, com vontade de triunfar, e aí vem um sujeito e diz: “Olhe, você não pode”. Então, o meu caminho para o progressismo oficial – lá dentro tinha essa formação –, possivelmente, fazendo essa análise agora, tenha tido esse esbarrão, essa coisa.
de triunfar, e aí vem um sujeito e diz: “Olhe, você não pode”. Então, o meu caminho para o progressismo oficial – lá dentro tinha essa formação –, possivelmente, fazendo essa análise agora, tenha tido esse esbarrão, essa coisa. E esse progressismo meu veio desabrochar quando vou para a França e descubro, lendo os jornais, que havia um mundo diferente daquele que eu lia nos jornais brasileiros. SÉRGIO DE SOUZA - Inclusive A Tarde. Inclusive A Tarde. Quer dizer, ir para a França, ler o Le Monde, mesmo o Le Monde, e descobrir que o mundo era outra coisa, isso teve um papel muito grande. MARINA AMARAL - Interessante, o senhor falou tanto do Josué de Castro... No Rio Grande do Sul, os sem-terra têm uma escola de capacitação profissional dos jovens que se chama Escola Josué de Castro. Esse mesmo intelectual pouco mostrado para a minha geração é estudado por eles. É que Josué morreu na hora errada. Ele morreu na França, no momento em que a França estava preocupada em vender, em ampliar o comércio. Os funerais dele foram muito acanhados. Os franceses não queriam chocar o governo brasileiro, porque queriam vender, estavam chegando já à pré-globalização. E como o ensino hoje em grande parte não tem muita vocação para o começo das ideias, as origens dos conceitos, é muito mais pacotes do presente, então as gerações como a sua devem ter tido esse handicap desfavorável. GEORGES BOURDOUKAN - As universidades não deveriam resgatar o trabalho de Josué de Castro. Porque ele continua mais atual do que nunca... ROBERTO FREIRE - E desconhecido, não é?
Creio que sim. Mas as universidades, a cada dia que passa, têm a vocação do instantâneo. Os estudantes são conduzidos a uma atitude igualmente produtivista. Então esse regresso às fontes se torna difícil, mas não impossível, porque na juventude atual, de alguma forma, a gente sente uma curiosidade pelo passado. ROBERTO FREIRE - O senhor trabalha com o Josué com seus alunos? Quando cai dentro da temática. O meu trabalho central hoje é de um lado tentar explicar o mundo, e fazê-lo a partir de uma vontade de formar a minha disciplina, que é a geografia humana. A minha energia vai toda nessa direção, e os autores aparecem como nota infrapaginal. GEORGES BOURDOUKAN - Dentro de suas explicações, o senhor poderia eleger os problemas principais do Brasil? Como geógrafo, creio que o território brasileiro é o melhor observatório do que está se passando no país. Se olho o território nacional brasileiro hoje, vejo primeiro que é um território nacional, mas da economia internacional. Quer dizer, o esforço de quem manda, no sentido de moldar o território – porque o território vai sendo sempre moldado por quem manda –, é no sentido de favorecer o trabalho dos atores da economia internacional. Não são apenas as multinacionais estrangeiras, mas todas as grandes firmas estrangeiras ou brasileiras. São elas que trazem para o território uma lógica globalizante. Na realidade, uma lógica globalitária. Há mais do que globalização, há globalitarismo. Então, temos o território brasileiro trazendo esses nexos, que são cegos e que criam uma ordem para essas grandes empresas, trazendo desordem para tudo o mais. Desordem criada para as empresas não envolvidas, que são atingidas por ela, por essa entropia negativa dentro do território, que alcança toda a sociedade. Então, o território re-
\205_
#13_ Milton Santos
vela também a incapacidade de governo, quer dizer, a não governabilidade do país, porque o Brasil é um país não governado. Ao mesmo tempo em que o território revela que o governo, a política, se faz pelas grandes empresas. São as grandes empresas que fazem a política. Isso se vê no uso do território brasileiro. ROBERTO FREIRE - O estático é nosso, o funcional é deles. Oferecemos mais que o estático, porque oferecemos aquilo que não pode – isso seria a segunda parte do meu discurso – ser objeto de redução. Que são os corpos, os nossos corpos como gente, que não são redutíveis. E o território que também é o nosso corpo, porque o território nos inclui. Então isso leva a uma fragmentação. O território brasileiro é fragmentado. GEORGES BOURDOUKAN - É um novo tipo de feudalismo? Há um novo tipo de feudalismo e de militarização do território ao mesmo tempo. Porque tem de obedecer, tem de fazer aquilo que manda o chamado mercado global. Vejam, por exemplo, as áreas agrícolas mais modernas, como o Estado de São Paulo, que funcionam segundo um regime militar, no sentido de ter de fazer aquilo que lhes é ordenado – ou dá ou desce, ordem unida –, seguindo o que é necessitado por essa ordem global. Digamos que a globalização dê n’água, como vai dar. Como o interior de São Paulo vai reagir? Quais seriam os cenários? Uma enorme área vendendo suco de laranja, o que acontecerá? GEORGES BOURDOUKAN - É monocultura isso? O Estado de São Paulo estaria repetindo o que fez o Nordeste no passado? Uma monocultura ligada a uma ordem global que não existia antes. Muito mais constrangedora do que as ordens internacionais anteriores.
_206/
18 entrevistas _ revista caros amigos
SÉRGIO DE SOUZA - Seria programada agora? Programada. É a primeira vez que a divisão do trabalho é programada, nunca foi antes. Isso é um problema. Então, quando a gente faz falar o território – que é um trabalho que creio que é o nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem falar a alma, como o Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso Furtado quis fazer falar a economia –, o território também pode aparecer como uma voz. E, como do território não escapa nada, todas as pessoas estão nele, todas as empresas, não importa o tamanho, estão nele, todas as instituições também, então o território é um lugar privilegiado para interpretar o país. E uma boa parte dos brasileiros não se dá conta de que o país está cada dia mais sendo fragmentado, e numa fragmentação que não possibilita a reconstituição do todo, porque o Estado nacional se omitiu, e o comando do território, naquilo que há de hegemônico, é entregue às grandes empresas. Então, a reconstituição do todo nacional, que os franceses chamam de lien social, a solidariedade, não existe mais no Brasil. Vejam a maneira como se discute previdência social, desculpe usar esse argumento terrível, a forma como se trata os aposentados – há um contrato da nação, tenho de dizer isso porque sou velho (risos). Há um contrato da nação que cada pessoa cumpriu a vida inteira e, no fim, dizem a ela: “Esse contrato não vale mais”. E isso é aceito! Então, os diversos capítulos do que seria a solidariedade são bafoués, largados, e uma parte da sociedade aceita como normal porque estamos “no caminho da modernidade, para ser primeiro mundo”. Então, há uma fragmentação da sociedade, do território, junto com a governabilidade, que os prefeitos, sem saber muito que se trata disso, estão descobrindo lentamente, tanto que foram para Brasília reclamar. E foram recebidos por cachorros, policiais, mas não pelo presidente da República.
SÉRGIO DE SOUZA - Um número espantoso. Espantoso, mas é isso: com o território se fragmentando, a governabilidade se torna impossível. E aí a gente já entra na segunda parte, que é a esquizofrenia do território. O território brasileiro é esquizofrênico. Por quê? Porque de um lado, recebendo esses insumos de modernização globalitária, ele se fragmenta, se fragiliza. De outro lado, descobre que esse processo não lhe convém, e talvez lhe falte descobrir qual é a lógica mais geral que permite a produção de um discurso novo. Primeiro acadêmico, quando possível também da mídia, e depois o discurso político. LEO GILSON RIBEIRO - Pelo que o senhor está dizendo, voltamos a ser uma espécie de entreposto imenso, uma senzala, regida por uma pequena casa-grande em que na parte de cima estão os estrangeiros e na de baixo, os testas de ferro brasileiros? Eu preferiria pô-los juntos, na medida em que neste fim de século a economia é subordinada à política. As empresas fazem política sem aquela velha distinção anglo-saxã entre policy e politics. A policy é como organizar a coisa para chegar a objetivos individuais. E a politics é algo mais geral, filosófico, englobante. Só que as empresas acabam fazendo política, porque a sua policy, a sua politiquinha particular, privatística, cega, envolve todas as outras áreas da vida social. As áreas são envolvidas por elas, então elas fazem politics. E o Estado – a política do Estado, que também há uma – é forte por se abster. Essa abstenção é que o faz mais forte do que nunca, a serviço das empresas. Essas empresas nacionais que antigamente eram chamadas de testas de ferro são hoje muito mais importantes, porque o consenso no interior da nação resulta de um trabalho desses empresários brasileiros que estão de acordo com isso, para sobreviver. E com a vocação, que imagino que tenham, de ser
quando a gente faz falar o território – que é um trabalho que creio que é o nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem falar a alma, como o Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso Furtado quis fazer falar a economia –, o território também pode aparecer como uma voz. também globais. Então, as grandes empresas, para exercer seu papel econômico, necessitam fazer política. É um dado do fim do século. Com essa globalização, elas fazem política através da produção da imagem, através da necessidade de estabelecimento de regras, normas, na medida em que a técnica tem um comando geral na vida produtiva, e a técnica, ela própria, já é uma norma, não é isso? A técnica é uma norma exigente de normas. Então as empresas precisam de normas. As normas próprias e as normas em que está estabelecido o ambiente – falo de território, que é também normado – para que as empresas possam tirar um melhor proveito. Então, a política é a condição de realização da economia. E é a razão pela qual a gente não pode tocar um esparadrapo na boca dos economistas, mas também não pode deixá-los falar sozinhos, porque eles conduzem o debate para um canto, o que não permite ver o funcionamento global. ROBERTO FREIRE - O senhor usou a palavra esquizofrenização. Na psiquiatria, o conceito de esquizofrenia é de divisão. O senhor coloca muito bem essa divisão. É mesmo um processo esquizofrênico do ponto de vista social. Mas tem o outro lado, que os partidos ainda não foram capazes de descobrir: essa união que está despontando entre todos os excluídos de diver-
\207_
#13_ Milton Santos
sos níveis. Porque há o excluído do comércio, há o excluído da pequena indústria, quer dizer, na economia, na sociedade, na cultura.
o direito assim imóvel como querem. São chavões. Como dizer, e se diz, e a própria esquerda fica calada: “Sindicato não pode fazer política”.
GEORGES BOURDOUKAN - Qual poderia ser esse traço de unidade? Acho que é essa exclusão, que aparece no primeiro momento como provisória e que na verdade é definitiva. Porque aparece como algo que tem remédio, mas de fato não tem, exceto se houver uma mudança civilizatória. Acho que há muito que caminhar. Mas já há uma...
MARINA AMARAL - É um absurdo dizer isso. A greve é política. A greve é política! Essa agora dos professores, o ministro disse, reclamando: “Está claro agora que a greve é política” (risos).
LEO GILSON RIBEIRO - Consciência... Não sei se uma consciência, mas já há uma percepção. E o caminho a fazer é passar da percepção à consciência. SÉRGIO DE SOUZA - É aí que entraria, por exemplo, o MST, que com organização própria, independente de um poder maior, está não só reivindicando, mas agindo? É uma mudança que estamos notando e que talvez também surja na periferia, com esse movimento hip hop. Não sei se é espontâneo, mas parece que aí estaria a novidade. Como o senhor vê o MST? Primeiro, vejo como esse grito que a maior parte de nós não pode dar, não quer dar, que não convém dar. E creio que esse fim do século é dos paradoxos. Paradoxo é a contradição em estado puro, não é? Então, ao mesmo tempo em que o MST é criticado, ele é apreciado, pelo que contam as pesquisas. MARINA AMARAL - As pesquisas de opinião mostram uma simpatia até entrar no saque, daí já não há mais simpatia. Porque nos dizem que o direito é para ser obedecido, quando na realidade ele é para ser discutido, pois o direito é o resultado de um equilíbrio provisório que se cristaliza – mas a sociedade continua dinâmica, então não se pode imaginar
_208/
18 entrevistas _ revista caros amigos
GEORGES BOURDOUKAN - Mas é que a palavra “política”, hoje, políticos oficiais sujaram de tal maneira, que quando se fala “a coisa é política” pode parecer uma coisa mal intencionada. É que não são políticas. Não terminei a lista. A política é feita pelas grandes empresas. Os políticos não fazem política, o aparelho de Estado não faz política, são porta-vozes. O povo faz política, os pobres é que fazem política. Porque conversam, porque conversando eles defrontam o mundo e buscam interpretar o mundo. E agem, quando podem, em função do mundo. Creio que essa é a questão do MST. O outro aspecto é que a organização é importante, e a desorganização também. A organização conduz obrigatoriamente a palavras de ordem, a certa necessidade imposta. Tem de ter as duas coisas. E, para voltar ao que o Sérgio sugeriu, o que as periferias revelam é um pouco isso. Só que não estamos preparados para entender, porque nosso aparelho cognitivo... ROBERTO FREIRE - Está preparado para entender a forma tradicional, que está na mão dos poderes. Está na mão nossa também, da universidade, da faculdade. A gente quer repetir a interpretação do Brasil através do que aprendeu na Europa e nos Estados Unidos com a classe média, porque pobres não havia. Na Europa em que essa geração estudou, quase não tinha pobre, e
A política é feita pelas grandes empresas. Os políticos não fazem política, o aparelho de Estado não faz política, são porta-vozes. O povo faz política, os pobres é que fazem política. Porque conversam, porque conversando eles defrontam o mundo. E agem, quando podem, em função do mundo. a classe média era defensora da democracia e do seu aperfeiçoamento. Tanto que houve a expansão da social-democracia, que era uma forma de aperfeiçoamento da democracia. E os pobres são tratados por nós, que aprendemos a epistemologia europeia na universidade, como o chantilly no bolo. A gente faz a construção, depois coloca o pobre em cima. Partidos de esquerda também fazem isso. Quer dizer, a construção toda é de classe média e depois os pobres são colados lá em cima, porque resta aquela ideia de que a classe média queria defender os princípios fundamentais da humanidade e que os pobres, coitados, não têm nenhuma possibilidade de ser visionários porque estão no dia a dia, “vivendo da mão para a boca”. O dia a dia era considerado pela antropologia e sociologia oficiais como algo que impedia qualquer vocação para o futuro. Quando é o contrário, porque quando tenho todos os dias que renovar meu estoque de impressões, de conhecimentos, de luta, que é o que o povo faz, sou obrigado a renovar também a minha produção filosófica, vamos dizer assim. Quer dizer, todos os dias o povo se renova, e num país como o Brasil, essa urbanização tão galopante, tão rápida, essa mudança de lugar (reivindico o assunto para a minha área) tem um papel extraordinário na produção desse outro homem, já
não tão seguro, ainda que ao mesmo tempo lhe ensinem que o consumo é bom e o façam crer que ele vai poder consumir. Há o bombardeio da informação, a tirania da informação, que é um dos esteios centrais da globalização. Nunca foi assim. E essa tirania da informação, essa ditadura da informação... SÉRGIO DE SOUZA - Da má informação, digamos, ou da informação em geral? Porque a informação não pode ser má. Ela é minoritária. A própria universidade faz parte desse processo, porque ela legitima, ela santifica aquela informação doentia... ROBERTO FREIRE - Deformada... Deformada, mas que é geral. SÉRGIO DE SOUZA - O senhor seria uma exceção. Acho que há muitas. SÉRGIO DE SOUZA - Mas são minoria também dentro da universidade. Claro. Porque deve ter muita gente que não é conhecida, mas como saem dali as ideias? A gente já escreve numa língua própria, que é o facultês, e às vezes escreve numa língua ainda mais restrita, que é o coleguês. A gente escreve para ser apreciado pelo colega que vai nos julgar, que vai nos dar promoção. Isso é uma prisão muito forte. ROBERTO FREIRE - O carreirismo, a necessidade de se manter protegido dentro da universidade. E se a pessoa sai muito disso, acaba sendo criticada. O senhor não recebe críticas? Essa coisa civilizada da vida acadêmica tem uma grande dose de hipocrisia. Às vezes, a gente nem sabe da crítica, nem tampouco vai se preocupar com isso, porque a decisão de dizer o que pensa já inclui a possibilidade da crítica.
\209_
#13_ Milton Santos
ROBERTO FREIRE - Mas o senhor pensa, diz o que pensa e incomoda as pessoas. O papel do intelectual é esse. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Professor, a sua obra, a sua produção, e nós que estamos fazendo uma revista cuja tiragem perto da Veja é ínfima, são coisas tão pequenas comparadas à avalanche em contrário, me dá a sensação de um deserto onde pipocam alguns pontos. Claro, são importantes e tal, mas me dá a impressão de que no futuro vão consultar e dizer: “Um dia teve um professor que falou aquilo, teve uma revista que publicou tal coisa...”. Dá a sensação de que é tão avassalador o globalitarismo, são tão avassaladoras as teorias neoliberais, a reengenharia e todos esses termos que surgiram, que a gente fica: “Tudo bem, vamos continuar”. Vou discordar da sua opinião. Não é assim. Ao contrário. Primeiro, que as ideias germinativas sempre foram corajosamente sustentadas por poucos. Segundo, que há uma grande demanda dessas ideias. Não gosto de dizer, parece vaidade, mas é uma informação: todos os dias sou convidado para falar aqui, ali, acolá, em todo lugar do Brasil. E como eu, vários outros. Quer dizer, há uma demanda disso e, na realidade, a ausência da grande mídia não é um problema, porque há consciência de que o trabalho tem de passar por um grupo pequeno de pessoas nesta fase. Aí entraria noutra coisa, que é a ditadura da informação, e informação criadora de mitos e de símbolos que são a base da globalização. Ela é fundada num sistema mitológico. Isso é menos visível porque as próprias coisas são portadoras da ideologia hoje. A gente é cercada na vida cotidiana por esses portadores de ideologia que são as coisas: o dinheiro, como a coisa que compra as outras coisas; o Real, que é mitológico e sobre o qual os partidos ainda não conseguiram encontrar um sistema de discussão. Porque não
_210/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A sociedade tem um movimento. O símbolo não, o símbolo é estático. E o movimento da sociedade desprende o mito, desprende o símbolo. Tanto que os outdoors são mudados com o propósito de recriar a propaganda eficaz. Então, há um limite à vida dessas ideologias. produziram um sistema. Agora, o que acontece? A sociedade tem um movimento. O símbolo não, o símbolo é estático. E o movimento da sociedade desprende o mito, desprende o símbolo. Tanto que os outdoors são mudados com o propósito de recriar a propaganda eficaz. Então, há um limite à vida dessas ideologias. E será que esse limite está chegando? Qual é o limite do Real? Qual é o limite, por exemplo, do cálculo da inflação? A classe média vive do crédito. Ela deve, todos devem. Todos devemos. A gente paga. O custo do dinheiro é o custo da inflação oficial? Outra coisa, a cesta básica. Vivem falando dela. Mas e os desejos? Sou chamado a ter mais desejos pela publicidade incessante. Mais coisas foram criadas para me serem oferecidas. E a cesta básica fica imóvel. O resto, não. Então, haveria que produzir outros discursos para apressar o limite da saturação do sistema ideológico que está por trás da globalização e do sucesso dos governos globalitários. Só que os partidos partem da análise dos economistas. MARINA AMARAL - Professor, de que maneira os objetos contêm essa ideologia de que o senhor fala? Vamos começar do começo. Quando eu era maduro (risos), a gente lia muitas coisas da literatura marxista soviética – porque eram mais baratas, não é? (risos) –, então tinha o bem e o erro, a
verdade e a mentira. A verdade e a ideologia. Mas a ideologia também é “verdadeira”. Ela produz coisas que existem, que são os objetos. Esse é um primeiro ponto de partida. Um outro ponto de partida é o seguinte: a produção de ideias precede a produção das coisas, hoje. Não era assim há cinquenta anos. Com a cientifização da produção, com a cientifização da técnica, tudo o que é produzido é precedido de uma ideia... científica. É por isso que a publicidade também precede a produção material. Quer dizer, antes de jogar um produto, faço a propaganda dele. O remédio é um exemplo: 1 por cento de matéria e 99 por cento de propaganda. Então, tudo é feito assim. A produção da política também. A política cientificamente feita, como agora, é precedida dos marqueteiros. Então, tudo no mundo de hoje tem essa produção ideológica, ou de ideias – para ser neutro – que precedem. Por conseguinte, há um mercado de ideias que antecipa a produção de tudo, pelo menos do que é hegemônico. E o consumo é o grande portador de tudo isso. Por isso, ele é o grande fundamentalismo hoje. Não é do Khomeini o grande fundamentalismo, é o consumo, porque é portador do meu impulso para essa forma de vida, que acaba me transformando numa coisa, num objeto. MARINA AMARAL - E de que maneira resistiria a esse processo? Creio que a resistência vem de dois lados. De um lado – tomo isso de Sartre, e deve estar em outros autores também –, a questão da escassez, o fato de eu não poder alcançar essas coisas e a repetição dessa sensação de falta me convocam a perguntar: “Mas por quê?”. E num segundo momento, busco entender. Esse entendimento será tanto mais rápido quando houver a produção, por nós, de sistemas de explicação. GEORGES BOURDOUKAN - Professor, estamos num ano eleitoral, e o governo lança uma nova
moeda, dourada etc. Pelo que o senhor falou, devo entender esse gesto como uma propaganda eleitoreira. Para lembrar que o Real existe de fato, que é concreto, o governo está usando esse símbolo, certo? Sim. Esses objetos que são exatamente portadores de uma ideologia. É típico de nossa época. Durante a história, o homem tinha comando sobre os objetos. Eram poucos. Na minha própria infância e juventude, eram poucos objetos, e eu os comandava. Hoje, são eles que me comandam. E a gente acaba sendo perseguido pelos objetos. Você tem fax em casa, e-mail, é um inferno... (risos) MARINA AMARAL - A questão seria a recusa ao consumo ou a reivindicação coletiva pelo direito de consumir tudo? Acho que há uma contradição entre a produção do consumidor e do cidadão. A ideia de cidadania é ligada à ideia de indivíduo forte. E a ideia de consumidor, ligada à ideia de indivíduo débil. Objeto forte, indivíduo fraco, débil. E às vezes debiloide (risos). Essa contradição, às vezes, nos parece difícil de ser superada. A gente tem a impressão de que está chegando a um mundo onde uma reversão se torna impossível. Mas não é isso, não creio que seja isso. A gente vê aqui e ali esses movimentos... SÉRGIO DE SOUZA - Que papel a religião teria num quadro novo, ou está tendo no atual? A religião tem um papel globalitário, globalizante. A gente que manda está usando a própria religião para encobrir uma porção de coisas. Então, há um processo deliberado de difusão de religiões, seitas, que são destinadas a amparar o processo de globalização. E são muito fortes, a gente vê. Tem um outro lado, que é o lado de fazer descobrir que a filosofia, o pensamento, não é algo apenas europeu ocidental. Essa invasão de palavras orientais e outras tem um pa-
\211_
#13_ Milton Santos
pel importante também. Uma coisa que andei querendo trabalhar, mas em que não avancei muito ainda, é que há uma evolução por cima e por baixo, que vai continuar durante um tempo, porque a impressão que tenho é que a nova globalização, essa que queremos, e que vai chegar, ela vai partir de soluções particulares, de explosões que não vão se dar ao mesmo tempo. E o que a gente chamaria de cultura, para unir tudo isso, vai ter um papel muito forte. Quer dizer, essa coisa do Japão, já que se fala da crise japonesa, é a crise da globalização, não é a crise japonesa. E tem muito a ver com a cultura do Japão, que recusa aceitar a globalização tal como ela é. A maior parte do Brasil, como população, como território, não aceita a globalização. O que falta é propor uma outra globalização. Está havendo, até agora, uma certa insistência nesse processo de cima para baixo. Haverá também um processo de baixo para cima, que coincide um pouco com o que já vem acontecendo. E aí essas crenças vindas da ingenuidade popular. Ingenuidade tem a ver com criatividade. Ingenuidade e engenho são vizinhos. Porque o que vem de cima não tem engenhosidade, por ser uma regra indiscutível, mas chamam a isso de “flexibilidade”. E a gente repete – a “flexibilização”, quando a economia dominante não é flexível, porque só há uma forma de fazer! Ou faz daquela forma ou cai fora. Os economistas do PT repetem: “flexibilização”, quando isso não existe. Quer dizer, nosso próprio discurso é inadequado para a gente se opor à globalização. Voltando à religião, ela é produtora de discursos, tem esse papel, quer dizer, é também produtora de palavras de ordem. ROBERTO FREIRE - Sintetizando, seria uma globalização via econômica esta que está aí, e a outra cultural. A palavra seria cultural? Eu diria via gente, povo. Por exemplo, havia um projeto de controle demográfico, aí mandaram
_212/
18 entrevistas _ revista caros amigos
pílula anticoncepcional para diminuir a população, mas o projeto foi contrariado, porque foi todo mundo para a cidade! E o fato é que empobreceram a população, no caso do Brasil. A urbanização se deu de forma tão concentrada que cria condição territorial e política de mudança. Não tem jeito. Tem povo pobre demais. Está bom do ponto de vista histórico. Se fosse todo mundo classe média, a mudança iria ser lenta. GEORGES BOURDOUKAN - Professor, qual seria a solução para a seca do Nordeste? Sobre a seca, fiz recentemente um artigo para a Carta Capital. A discussão é que, primeiro, a questão é social, e não natural. Aí, outra vez Josué de Castro, primeiro, e depois Celso Furtado. Ambos levantaram essa questão, que não é questão da natureza, é questão da sociedade, uma questão política. Num mundo globalizado, o governo está preocupado com as áreas que respondem à globalização e não como antes, com a unidade nacional. Então, a fragmentação do território também se revela aí, na seca, e há pouca vontade de voltar atrás, senão se buscaria uma solução nacional para a questão. MARINA AMARAL - Solução nacional em termos técnicos mesmo, de fazer obra? A técnica vem depois, sempre. Os técnicos são pessoas subalternas. É o político que tem de decidir. É a ideia de nação que precisa prevalecer. Isso é o central, ver o que deverá ser feito a partir de uma dada ideia de nação. Como isso não existe, quando há muita crítica, eles mandam remédios provisórios e tudo o mais. Agora, o Nordeste vai reagir com grande brutalidade à brutalidade da globalização. Como a região é atrasada, o impacto vai ser muito forte. As cidades vão ficar cheias de gente lá em cima e aqui embaixo também, e os conflitos vão ser muito grandes. É a minha visão do que vai acontecer no Nordeste, quer dizer, a globalização vai ser
muito brutal e o esvaziamento do campo também nos próximos dez anos. MARINA AMARAL - Falando em território, é melhor manter a população do campo ou não dá mais para fazer isso? Por que vou condenar as pessoas a ficar no campo? MARINA AMARAL - Por exemplo, o MST acha que a saída seria as pessoas ficarem no campo. É complicado, porque o Brasil é muito grande. Creio que tem duas coisas. Primeiro, mesmo a globalização, com sua brutalidade, não vai levar o país a mudar todo da mesma forma. As mudanças serão mais lentas em certas áreas. Segundo, a globalização, de uma forma ou de outra, vai exigir uma certa qualificação para o acesso ao trabalho rentável. Já hoje, no caso de São Paulo, por exemplo, uma boa parte das atividades urbanas paga menos do que as atividades rurais. Esse é outro argumento, digamos, no sentido de ficar no campo. Quando falo campo, não é a cidade do campo, é o campo mesmo, e isso é condenar o sujeito a ter menos consumo de saúde, porque é mais difícil, mais caro oferecer saúde quando a população é dispersa. É mais difícil oferecer consumo de educação, e também o consumo político, consumo de política. MARINA AMARAL - Mas é diante dessas condições, ou será sempre uma condenação? A partir das condições que tivermos hoje. LEO GILSON RIBEIRO - E por causa da mecanização da lavoura, também? Sim, porque, quando mecanizo a lavoura, mecanizo o território também. Quer dizer, crio estradas, e aí as pessoas podem se mover, aí vão para a cidade. Como é o caso de São Paulo. Cerca de sete por cento das pessoas vivem na área rural, mas o número de trabalhadores agrícolas
A maior parte do Brasil, como população, como território, não aceita a globalização. O que falta é propor uma outra globalização. Está havendo, até agora, uma certa insistência nesse processo de cima para baixo. Haverá também um processo de baixo para cima, que coincide um pouco com o que já vem acontecendo. E aí essas crenças vindas da ingenuidade popular. Ingenuidade tem a ver com criatividade. Ingenuidade e engenho são vizinhos. Porque o que vem de cima não tem engenhosidade, por ser uma regra indiscutível, mas chamam a isso de “flexibilidade”. E a gente repete – a “flexibilização”, quando a economia dominante não é flexível, porque só há uma forma de fazer!
\213_
#13_ Milton Santos
é maior. A pessoa vive na cidade e trabalha no campo. Assim consome melhor saúde, melhor educação, melhor informação e melhor política. MARINA AMARAL - Então a reforma agrária não contribuiria muito para a melhoria da vida dessas pessoas? Só contribuiria num primeiro momento, porque a produção hoje é comandada pela circulação. Então, se entrego a terra sem cuidar do resto, aquilo dura uma geração ou alguns anos, e depois a pessoa vai ser espoliada da mesma maneira. Mas, ainda aqui, a minha resposta vai um pouco além. Parto do homem que vive em São Paulo, ou de um baiano, mas não é a mesma coisa em relação ao Nordeste ou ao Norte, onde a mobilidade dos homens e das coisas é menor. Num território fluido, não adianta entregar ao pobre a produção. Ele não tem comando sobre o resto, quer dizer, sobre a circulação, sobre a comercialização. GEORGES BOURDOUKAN - Essa foi uma das razões do fracasso das agrovilas. Exato. Não, teria de ver isso. Mas, como instruir a população vai demorar, a presença no campo ainda é possível durante alguns anos. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Professor, o processo da globalização é um processo sem cara, não tem face pessoal, mas de qualquer maneira tem algumas expressões, e eu queria colocar uma, que é o presidente da República. Ela veio do meio da reflexão, da universidade, não quero particularizar nele uma coisa maior, que enfim envolve o mundo, mas a atuação de um homem que tem essa origem, chega a esse posto e, de repente, no caso do Norte-Nordeste, da seca, quase vira as costas para o problema, ou faz subterfúgio. Queria que o senhor falasse um pouco de um homem que chega a essa função tendo esse background.
_214/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A resposta tem de ser filosófica. A ação é sempre presente, não há ação passada nem ação futura, há apenas ação presente. E ação, de alguma forma, resulta de escolhas. A escolha pode ser resultado de uma convicção profunda ou de um escorrego na vaidade, na vontade de estar presente, o que a gente dizia da imagem – de aparecer. E aí volto ao começo de sua pergunta, que é não ter cara – começa a ter cara a globalização. Acho que 1998 é um ano importante por causa dessas grandes fusões no domínio da produção, do dinheiro e da informação – a cara vai aparecer. Então, o que acontece é que esse sistema de ideologia, que é também o sistema de perversidade, ele escolhe os homens, os seus representantes e os suplentes. É uma escolha. Na campanha eleitoral, a gente vê claramente. Os titulares e os reservas aparecem. É a produção das figuras necessárias, que é um dado do mundo hoje. Quer dizer, não há uma escolha nacional do líder nacional. Há uma escolha internacional, global, do líder nacional. Acho que esse é o jogo, e essa escolha é em grande parte feita entre pessoas que um dia foram insuspeitas. MARINA AMARAL - E esse processo tem o mesmo peso em todos os países, ou o senhor acha que nos países do terceiro mundo a globalização impõe ainda mais os escolhidos? Acho que são as sociedades locais, como elas funcionam face à política. Nos países onde a política nunca existiu, ou existiu menos, nos países onde a cidadania nunca existiu, ou existiu menos, num país onde indivíduos fortes nunca existiram – perdão, existir sempre existiram, mas com menor força, menor presença – é mais difícil. Porque esses países são muito mais dependentes do sistema da ideologia. Na Turquia foi assim. Também foi escolhido um intelectual. Na Grécia, no Peru Vargas Llosa... É um fenômeno global.
A produção hoje é comandada pela circulação. Então, se entrego a terra sem cuidar do resto, aquilo dura uma geração ou alguns anos, e depois a pessoa vai ser espoliada da mesma maneira. Num território fluido, não adianta entregar ao pobre a produção. Ele não tem comando sobre a circulação, sobre a comercialização. MARINA AMARAL - O Tony Blair parece uma pessoa semelhante ao Fernando Henrique. A sociedade inglesa não teria condições de reagir de outra maneira? Não sei se o Tony Blair foi grande professor ou foi tornado professor. Mas, em certos casos, prestígio intelectual também é produzido. Há pessoas que são escolhidas para ter prestígio intelectual internacional. MARINA AMARAL - Mesmo num país desenvolvido como a Inglaterra? Que está dando importância à retórica. A retórica ganhou uma enorme importância hoje e, talvez por isso, a gente deveria aprimorar o nosso discurso também, não é? MARINA AMARAL - O senhor acredita que os organismos internacionais possam ter força no futuro? Pode existir uma ONU que funcione mesmo? Quando se fizer a globalização por baixo, sim, porque haverá outra realidade. Mas, do jeito que está, há uma poluição dos organismos internacionais, acabam poluídos. MARINA AMARAL - Essa globalização por baixo seria via ação local de todos os povos? Acho que vai haver, no caso do Brasil, primeiro, uma outra federação. Vamos produzir uma ou-
tra federação. Os lugares vão se mostrar insatisfeitos, vão entender por que estão insatisfeitos, o que não sabem completamente ainda. Daqui a pouco vai haver uma reforma na Constituição, feita por cima, mas daqui a alguns anos vai haver outra, feita por baixo, porque essa por cima não vai funcionar. Isso vai acontecer em alguns ou todos os países. Aí, depois que fizermos a nossa federação por baixo, haverá a produção da globalização por baixo também, com novas instituições internacionais. MARINA AMARAL - Esse processo é pacífico, professor? Não, não é pacífico. LEO GILSON RIBEIRO - E leva a um desmembramento do Brasil, ao separatismo? Ao contrário, porque é por baixo. Vem de baixo para cima. Vem com emoção, com menos cálculo. E vai incluir os negros, as minorias, quer dizer, as minoridades, porque não são minoria... MARINA AMARAL - A questão negra terá uma importância muito maior? Claro. Já está tendo maior que na minha maturidade (risos), do que na minha juventude, e terá muito maior, porque os negros não vão para lugar nenhum! E com a globalização, eles serão... nós seremos – ato falho – (risos) ainda menos atendidos. MARINA AMARAL - E que prazo o senhor prevê para essa outra globalização? Não tem prazo. Depende de um conjunto de circunstâncias. Não sei como vai evoluir na Índia, na China, no Irã, no Iraque. GEORGES BOURDOUKAN - Professor, na semana passada, nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan e os neonazistas fizeram uma série de manifestações, não querendo mais que os negros
\215_
#13_ Milton Santos
circulassem nas ruas. Aí, de repente, ressurgiram os Panteras Negras, desfilando armados. Como o senhor analisa esse fato? Passei agora uns meses ensinando lá, e uma coisa me espantou e atribuo, como sempre olho as coisas, ao território californiano, que é extremamente fluido, bem organizado, bonito do ponto de vista material, com urbanismo aceitável, mas com extrema aridez da vida social e das relações interpessoais, ligadas ao fato de que é o creme do mundo moderno, informatizado etc. Então é o lugar da ordem, da necessidade da obediência a regras, do pragmatismo, e também o lugar onde as conquistas sociais estão em regressão muito grande. O Estado suprimiu, via plebiscito, aquela coisa da discriminação positiva, depois a língua espanhola, que era tratada com certa igualdade com a ex-língua nativa, também foi suprimida, com outro plebiscito. Quer dizer, uma volta atrás. Então, essa reação eu imaginava. É nesse sentido que digo que, no Brasil, os negros vão deixar de ter a posição que têm hoje, pois ainda sorriem, e vão começar a ranger os dentes. O que é preciso é que os negros queiram ser a nação brasileira. Não tem de imitar americano nem querer ser africano. Porque, quando quero ser africano – ou africano-brasileiro –, acabo sendo menos político. Sou político no meu país, porque não há política global, por enquanto. Então, esses atos de violência nos Estados Unidos vão ter o correspondente no Brasil em atos de revolta, de rebelião, de manifestações grandes, em outra escala e com mais força. GEORGES BOURDOUKAN - O senhor sente isso mesmo? Prevejo. MARINA AMARAL - Como o senhor vê a evolução do movimento negro no Brasil, é rápida ou lenta?
_216/
18 entrevistas _ revista caros amigos
No Brasil, os negros vão deixar de ter a posição que têm hoje, pois ainda sorriem, e vão começar a ranger os dentes. O que é preciso é que os negros queiram ser a nação brasileira. Não tem de imitar americano nem querer ser africano. Porque, quando quero ser africano – ou africanobrasileiro –, acabo sendo menos político. Sou político no meu país, porque não há política global, por enquanto. Então, esses atos de violência nos Estados Unidos vão ter o correspondente no Brasil em atos de revolta. de rebelião, de manifestações grandes, em outra escala e com mais força.
Se eu olhar para trás, há um crescendo, tanto na velocidade quanto na intensidade. Pode estar misturado com vontade de ser classe média, que polui um pouco as coisas, mas há um crescendo. O fato de que os negros tenham ido para a faculdade também é importante – descobrem também que não vão conseguir emprego. Ou os que conseguem são de menor remuneração. Quando estou pensando na classe média, penso na minha solução individual, que é o pensamento da classe média típica, não é? Mas está havendo uma tomada de consciência, digamos assim, do fato de ser relegado. Porque os negros não fazem parte da nação brasileira, isso é outra coisa. Sinto isso. Pessoalmente, é minha experiência. SÉRGIO DE SOUZA - O senhor sente que isso também se dá em relação ao pobre? Não é a mesma coisa. Porque não está claro na cabeça... SÉRGIO DE SOUZA - Na cabeça do pobre? Não, na cabeça dos outros. Quando se é negro, é evidente que não se pode ser outra coisa, só excepcionalmente não se será pobre. É muito diferente. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - Só excepcionalmente não será. Não será pobre, não será humilhado, porque a questão central é a humilhação cotidiana. Ninguém escapa, não importa que fique rico. E daí o medo, que também tenho, de circular. Acredito que tenham medo. MARINA AMARAL - O senhor tem medo? Claro. Esse medo da humilhação. MARINA AMARAL - O senhor tem medo de entrar num restaurante chique e alguém olhar torto porque o senhor é negro? Tenho, tenho sim.
Sérgio de Souza - Todos os negros têm medo? Todos têm. Posso fazer uma confissão? Tenho uma certa simpatia por esse rapaz, o Pitta. Esse ataque todos os dias, isso me choca, me dói também. Nunca votaria nele, não vou visitá-lo até que acabe o governo dele, mas no fundo sou solidário, porque sei que uma parte disso vem do fato de ele ser negro. Pisado como ele é pisado todos os dias, quando não se faz isso com ninguém! SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - O senhor fala as coisas mais duras e pesadas e mantém o seu sorriso. Uma vez eu entrevistei o Antônio Callado e, abordando o assassinato dos meninos da Candelária, ele falava de uma virulência, uma dureza e, no entanto, com um ar espantosamente sereno. Perguntei como se dava isso, ele falou: “É a idade, é a sabedoria, a dignidade, não pode perder a clareza”, algo assim. O senhor lembra ele. Isso é ligado também a quem ensina. Porque quem ensina não tem ódio. Quem é professor mesmo não tem ódio nenhum. SÉRGIO DE SOUZA - Por falar em ensino, o senhor teria uma visão do ensino público superior, uma crítica, diante do que todos estão vendo? Creio que o ensino público é indispensável e, com a globalização, torna-se mais indispensável para assegurar a possibilidade de pensar livremente e de dizer livremente. Não basta pensar, tem de poder dizer. Por conseguinte, se o ensino ficar atrelado ao mercado ou à técnica, ele será cada vez mais canalizado para a subserviência, sobretudo porque a ciência tende cada dia a ficar mais longe da verdade. Porque a ciência é feita para responder à demanda da técnica e do mercado. Por conseguinte, ela estreita seu objetivo. Só o ensino público pode restaurar isso. Dito isso, as universidades públicas teriam de
\217_
#13_ Milton Santos
ser um pouquinho mais públicas, na medida em que elas não estão abertas. O número de matrículas diminui todos os anos. Em São Paulo, a evolução das vagas no ensino público é diminuta, e a expansão é do ensino privado. Então, a universidade pública para aumentar, digamos assim, a sua legitimidade, tem de se tornar um pouco mais pública. Tanto na aceitação de alunos quanto na escolha dos professores. SÉRGIO DE SOUZA - Mas esse modelo que está aí, esse ministro, o que significa o Paulo Renato? Bom, esse ministro é um porta-voz do processo de globalização perversa. Então, ele não merece entrar no debate. A questão é mais em cima. Porque de gente como ele os ônibus aí estão cheios (risos). Então acho que o debate tem de ser outra vez sobre a nação, outra vez com o mundo. Acho que a gente tem sempre de partir do mundo como ele está intermediado pela nação que a gente quer. Acho que é um pouco isso que está nos faltando, e deixar esses defuntos (risos). Foi Hegel quem disse isso, não foi? Deixar que esses defuntos descansem em paz. Não vamos perder tempo discutindo essas pessoas, porque a gente tem tão pouco tempo, tão pouco espaço. SÉRGIO DE SOUZA - Eu estava perguntando do modelo mesmo, a pessoa estava envolvida. Mas dentro da universidade, da USP, essa discussão se dá entre os mestres? Ela se dá entre alguns mestres. Vai se dar com mais força agora, porque está havendo um estreitamento dos recursos, a universidade está empobrecendo, os salários estão diminuindo. Então, ele vai começar com a perspectiva de – como na classe média – se transformar numa discussão filosófica. A classe média está sendo chamada a uma outra discussão. Não pode mais mandar o filho à escola boa, não pode mais cui-
_218/
18 entrevistas _ revista caros amigos
dar da saúde, não pode mais envelhecer, não pode mais ficar doente. Também no caso da USP, que é uma universidade que somente conheceu crescimentos, engrandecimentos e que evoluiu nessa ideia da sua própria grandeza, a pré-crise que está vivendo agora vai despertá-la para um debate mais amplo. Que ainda não está sendo feito. MARINA AMARAL - A impressão que dá às vezes é que é muito corporativo o debate, que os professores estariam mais preocupados com o próprio salário do que com o que acontece na universidade. É uma visão maldosa essa? Creio que a enorme dificuldade é ser intelectual neste fim de século. Uma enorme dificuldade, que na verdade está incluída nessa globalização, porque a universidade é chamada a ser porta-voz. Quer dizer, os apelos todos da globalização, aumentando os contatos entre as universidades e indicando as universidades que são faróis. Ela acaba corrompendo as universidades subordinadas, como a USP e as outras, do terceiro mundo, que não são universidades portadoras de teorias do mundo. GEORGES BOURDOUKAN - Não haveria mais pensadores? Acho que há um certo número, mas é mais difícil hoje do que antes. Primeiro, pensar e, segundo, ter o seu pensamento difundido. LEO GILSON RIBEIRO - Quando o senhor diz que a ciência está se afastando da verdade, isso indica que ela está também no caminho do lucro? A serviço do lucro. Quer dizer, a descoberta gratuita ou de um futuro diferente daquilo que já está traçado – por conseguinte, não é mais futuro, porque já está traçado, não é isso? Não está acontecendo. Acho que esse é o problema da ciência hoje. Quer dizer, de um lado as ci-
ências humanas são comandadas pela moda, então a gente faz aquilo que está na moda, que está na mídia. Dá-se mais valor à moda do que ao modo, porque a moda é que assegura a promoção, o status. A moda vem das universidades hegemônicas, que sabem por que estão impondo as modas. Então, você passa 15 anos estudando dependência, passa 15 anos estudando setor informal... Veja, nesses últimos 40 anos, os temas centrais foram dois ou três. Que não levaram ao progresso do conhecimento, levaram para trás. E nas ciências exatas e nas outras, é o mercado que escolhe o que fazer. Com a globalização, a escolha é cada vez mais estreita. Por conseguinte, o campo de pensamento se afunila e a distância em relação à busca da verdade aumenta. E hoje há uma tecnização da pesquisa, quer dizer, há uma necessidade de dinheiro. A maior parte das pesquisas precisa de dinheiro, isso complica, porque o dinheiro é mais frequentemente dado para os centros de pesquisa que aceitam essa instrumentalização. E pensar livremente se dá a partir de um certo estágio, uma certa experiência ou um certo gênio – gênio em qualquer idade –, o que significa um número menor de pessoas, que tem público por isso mesmo menor. E o público vai exatamente para o outro lado. A universidade pública seria o lugar do intelectual público. Mas, hoje, a possibilidade de ser intelectual público é cada vez mais limitada por essas condições todas sobre as quais falamos aqui. SÉRGIO DE SOUZA - E o senhor falava de mitos. O mito maior hoje seria o mercado. Exato. Porque ele sobrevive a partir disso. Começa pelo próprio nome, “mercado global” – não existe isso. Onde há esse mercado global? Mas tudo é mandado fazer em função do mercado global. Eu ainda ouvia essa manhã no rádio: “Ah, porque a exportação é que garante o crescimento”. Será?
Nas ciências exatas e nas outras, é o mercado que escolhe o que fazer. Com a globalização, a escolha é cada vez mais estreita. Por conseguinte, o campo de pensamento se afunila e a distância em relação à busca da verdade aumenta. E hoje há uma tecnização da pesquisa, quer dizer, há uma necessidade de dinheiro.
GEORGES BOURDOUKAN - Professor, o que muda se o PT ganhar a eleição? Não sei, porque quando a gente lê um economista do PT é quase a mesma coisa. Acho que vários trabalhos estão sendo feitos, um é o deles, os políticos, outro é o nosso, os intelectuais; não se confundem. E o nosso trabalho realmente vai começar depois das eleições, seja quem ganhar. Se o presidente atual ganhar, o processo histórico será acelerado, isso eu sinto. SÉRGIO PINTO DE ALMEIDA - A crise se aprofunda. A visibilidade da crise vai aumentar. Acho que é isso, como do pedagógico. Porque, se fosse eleito o Antônio Carlos Magalhães, ou o Covas, a opinião seria: “Mas como vai falar mal dele, está chegando!” Esse está chegando. (risos) GEORGES BOURDOUKAN - Gostei muito da entrevista. Finalmente sentou na nossa frente um filósofo. Mas não oficial. Fiquei muito feliz com essa conversa, ela me fez avançar. E vamos ver se a gente toca o país.
\219_
_220/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#14_ Oscar Niemeyer _
Julho de 2006
“O importante é a vida, o sujeito viver bem, de mão dada” Comunista de carteirinha, um otimista que movia a vida e seu trabalho “com alguma esperança no coração, pensar que tudo vai mudar”, Oscar Niemeyer deixou marcas profundas na arquitetura brasileira, influenciou gerações de arquitetos dentro e fora do País e fez de seu ofício um instrumento revolucionário a serviço não só da estética, mas também da concepção social da ocupação dos espaços. Foi assim, por exemplo, em um projeto desenvolvido na Argélia, segundo ele próprio, orientado pelas ideias do antropólogo Darcy Ribeiro sobre a importância da aproximação e troca de experiências entre os alunos. “A arquitetura evoluiu em função da técnica, mas também em função da melhoria da sociedade, de uma sociedade mais justa”, disse, ao comentar a obra, em entrevista à Caros Amigos em julho de 2006. Em plena Era Bush - “um momento de decadência”, definiu -, se mostrou entusiasmado com a renovação no cenário da América Latina com os governos populares. “A gente espera que mude. Há qualquer luz no horizonte.” Não viveu para ver a região novamente ameaçada por um cenário de crise e uma onda de retrocesso que, no Brasil, culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e manifestações pró-golpe diante de prédios de Brasília que saíram de suas pranchetas.
Oscar Niemeyer nasceu em 15 de dezembro de 1907 e morreu em 5 de dezembro de 2012, no Rio. O Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, foi seu primeiro projeto público, a convite de Juscelino Kubitschek, que o encarregaria anos depois de criar os edifícios da nova capital Brasília. Comunista convicto, em 1945, abrigava militantes perseguidos em seu escritório, que acabou cedendo para o PCB. Com o golpe de 64, se exilou na França. Foi amigo de várias lideranças da esquerda, entre elas Luiz Carlos Prestes e Fidel Castro. ENTREVISTADORES Rafic Farah Thiago Domenici Gershon Knispel Claudius Marina Amaral Marcelo Salles
Morreu, aos 104 anos, às 21h55 da quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, deixando um legado histórico. “Não me sinto importante. Arquitetura é meu jeito de expressar meus ideais: ser simples, criar um mundo igualitário para todos, olhar as pessoas com otimismo. Eu não quero nada além da felicidade geral.”
\221_
#14_ Oscar Niemeyer
RAFIC FARAH - Você viu momentos lindos e momentos de altos e baixos, duros e bons da realidade brasileira; sente que hoje no Brasil há um predomínio da ignorância? É uma continuação do regime capitalista, não é? Do império dos Estados Unidos, do Bush a espalhar sangue por toda parte, é um momento de decadência. A gente espera que mude, porque sente que em toda a América Latina, em toda parte, há uma tendência de mudar. Um movimento contra o Bush, governos mais populares na América Latina. Tanto que a gente vê que a coisa está melhorando, que há qualquer luz no horizonte. A gente tem uma esperança. Mas é difícil, principalmente para nós que não acreditamos em melhorar dentro do regime capitalista. A gente tem que virar a mesa. THIAGO DOMENICI - O senhor é otimista com relação ao futuro do país? Eu sou porque é a maioria que vai comandar, não é? Eles estão com fome, não têm dinheiro, um dia a coisa muda, não é? E a gente tem que estar preparada para quando tiver a chance disso, como teve Fidel livrando Cuba. Então, mudar as coisas. Enquanto houver esse regime de poder, de dinheiro, dos bancos, não caminha nada. De modo que nossa posição agora, entre amigos, e em movimentos assim entre arquitetos, é melhorar um pouco a mentalidade das pessoas. O sujeito estuda em uma escola brasileira e é a formação do homem especialista, que é a maior merda, não é? O sujeito só sabe aquele assunto. O meio médico só sabe medicina, o outro a mesma coisa... Então estamos lutando para que nos regimes superiores haja sempre conferências paralelas sobre filosofia, sobre história, sobre letras. Não é para criar um intelectual, mas para criar um sujeito que tenha o mundo diante dele, esse mundo perverso que nós vivemos. Mas não é uma tendência de crer no racionalismo de Schopenhauer, não. Mas é ficar realista, ver que
_222/
18 entrevistas _ revista caros amigos
o ser humano não tem perspectiva, é pequenino, basta ele olhar para o céu, ele é insignificante, não é? Então levar o sujeito a uma posição mais modesta, o sujeito ter prazer em conhecer as pessoas, não ficar adivinhando os defeitos; não, é como dizia o Lenin, dez por cento de qualidade já são suficientes. Para haver um entrosamento, vontade de viver de mãos dadas de uma maneira mais decente. GERSHON KNISPEL - Juntar as disciplinas foi também a sua ideia quando fez o projeto da plataforma da Universidade de Haifa. Sob a plataforma reuniam-se todas as disciplinas. Com relação à arquitetura, por exemplo, a gente sabe que estamos vivendo um momento especial para o arquiteto. Porque o concreto armado permite coisas que eles nunca tiveram possibilidade de fazer. A gente lembra no passado, os arquitetos da Renascença, querendo fazer as cúpulas, limitados com 30 metros, 40 metros de diâmetro. Como eles gostariam de fazer a cúpula que estou fazendo lá em Brasília, que tem 80 metros de diâmetro. É a evolução da técnica na arquitetura, permitindo coisas que eram impossíveis. Veja em Veneza: o arquiteto do Palácio dos Doges queria fazer um espaço maior dentro do palácio e não podia. Então ele fez uma treliça de madeira fantástica para conseguir eliminar os apoios. Hoje, uma lajezinha dava a ele essa possibilidade, sem nenhum problema. De modo que a arquitetura evoluiu em função da melhoria da sociedade, do desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Por exemplo, eu me lembro de lá na Argélia. Não fiz um prédio para cada escola, fiz dois grandes prédios, um com salas de aula e outro com laboratórios, e esses dois prédios servem a todos os estudantes. Eu queria fazer o que o Darcy Ribeiro propunha: dar mais ligações para que os estudantes tivessem mais contato, trocassem experiências. Então, aí é o ensino que evolui e influencia a arquitetura. De modo que a arquite-
O concreto armado permite coisas que eles nunca tiveram possibilidade de fazer. A gente lembra no passado, os arquitetos da Renascença, querendo fazer as cúpulas, limitados com 30 metros, 40 metros de diâmetro. Como eles gostariam de fazer a cúpula que estou fazendo lá em Brasília, que tem 80 metros de diâmetro. É a evolução da técnica na arquitetura, permitindo coisas que eram impossíveis. Veja em Veneza: o arquiteto do Palácio dos Doges queria fazer um espaço maior dentro do palácio e não podia. Então ele fez uma treliça de madeira fantástica para conseguir eliminar os apoios. Hoje, uma lajezinha dava a ele essa possibilidade, sem nenhum problema. De modo que a arquitetura evoluiu em função da melhoria da sociedade, do desenvolvimento de uma sociedade mais justa.
tura cresce com esse apoio lateral da sociedade, da técnica. Por exemplo, quando os arquitetos sentiram que os prédios deviam subir para encurtar as distâncias, não foram eles que deram a solução, mas foi o elevador que permitiu subir. E aí apareceram nas cidades esses centros de arquitetura vertical horríveis uns contra os outros, mas podiam ser muito bons. Como tem na Île de France, em Paris. Eles subiam em altura, mas cresciam no sentido horizontal também. De modo que a arquitetura é sempre levada pelos fatos. Eu digo sempre que é a vida que muda tudo, não é? A vida é que é importante. Acho que o sujeito estar na rua protestando, esculhambando o governo, não esse governo atual, mas o sujeito querer mudar as coisas é que conta. A vida é que é importante. CLAUDIUS - Em 1968, fiz uma entrevista com o Lúcio Costa, e lembrei a justificativa que ele fez de Brasília, em que as superquadras seriam um ponto de encontro entre as várias classes sociais, permitiriam uma socialização em que as pessoas partilhariam o espaço comum, a escola, a igreja, o supermercado, o teatro, as habitações também, e eu disse: “Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas que fizeram Brasília estão morando nas cidades satélites, não na cidade que elas fizeram”. E ele disse: “A realidade brasileira foi mais forte que o sonho”. A gente pensa que nas cidades modernas o mais importante é a base, que não cresçam indefinidamente, degradando. E que elas sejam separadas, sejam multiplicáveis e não que uma cidade cresça. De modo que Brasília é isto: fizeram as cidades satélites grudadas no Plano Piloto. Então isso dificulta a circulação, esse vaivém de uma cidade para outra. É complicado. MARINA AMARAL - E o Rio de Janeiro? Como o senhor sente a evolução da cidade nesse tempo todo?
\223_
#14_ Oscar Niemeyer
Eu gosto do Rio, eu acho o Rio formidável, essa esculhambação. Nem tenho vontade de sair para lugar nenhum. Basta olhar o mar, com alguma esperança no coração, pensar que tudo vai mudar... CLAUDIUS - Não conseguiram destruir o Rio, incrível. Mas, se te dessem a possibilidade de tomar algumas decisões em relação ao Rio, o que você proporia? Acho que a base é a diferença entre as classes, é a grã-finagem que mora na beira do mar, olhando as favelas como inimigo, vendo os garotinhos da favela sem futuro porque nascem ali sem apoio, sem lar, estudo, sem nada, será um homem revoltado, feito a figura do escritor francês Albert Camus. O Rio tem que melhorar é o sistema de vida, não tem condição. Depois dizem que a gente fica se adiantando, que isso tem que vir com o tempo. Tem nada, tem que estar preparado. A gente tem é que sonhar, senão as coisas não acontecem. É lógico que em termos urbanos tem coisas erradas, cortaram a praia, fizeram entre a cidade e a praia uma via de circulação rápida; ninguém faz isso, é o contrário, a cidade mais ligada ao mar. São coisas que acontecem. Qualquer cidade antiga você vai ver, tem coisas erradas. RAFIC FARAH - Dentro do que você já viu acontecer, acha que o Brasil está evoluindo? Acho que está melhorando. Acho que o governo Lula, nós queríamos que ele fosse mais ativo, esperávamos um governo mais corajoso, mas é melhor ficar com ele. Porque a reação é uma merda. O Lula pelo menos conversa com o Chávez, dá um certo apoio. Não é o líder que nós gostaríamos, mas é um operário que está aí pensando no povo. Acho que tomar uma posição contra o Lula é uma posição reacionária, é pior. MARINA AMARAL - E o senhor vê outros líderes brasileiros interessantes?
_224/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu me lembro do Stalin dizendo para os soldados dele quando os alemães já estavam em Stalingrado: “Para Berlim!”. É fantástico, não é? E venceram a reação, livraram o mundo do nazismo. Tem gente que tem receio de falar de Stalin porque os americanos deram a ele uma imagem de um calhorda qualquer. E não é. É um sujeito fantástico. Vejo, vejo esse Stedile, que conduz a reforma agrária. O MST é o único movimento decente que temos aí. Tenho até boné que ele me deu. Quando o sujeito que vem é mais reacionário, eu ponho o boné. É uma luta importante. O Lula não deu todo o apoio que eles mereciam, mas, de qualquer maneira, está mantendo a coisa. MARCELO SALLES - Falando em revolução, que o senhor e o Stedile propõem, o senhor acha que a atual conjuntura permitiria isso? Acho que o mundo caminha à base do inesperado, de uma coisa nova que aconteça. Então temos a expectativa do que vai acontecer, pode vir a favor, pode vir contra, como as torres lá em Nova York, mudou tudo. As coisas são sempre assim. O João Saldanha dizia uma coisa boa, que é a vida que leva a gente. A gente faz um plano e bau. Outro dia eles vieram aqui, o pessoal do Pasquim: “O que você acha?”. “Acho que o importante é mulher do lado e seja o que Deus quiser.” Eles acharam graça, depois eu pensei: que frase mais reacionária, que coisa mais egoísta, porque não basta isso, isso é a base, né? A gente tem que olhar o mundo, a miséria que existe, uma contribuição imensa que a gente tem a dar, a ajudar a melhorar.
THIAGO DOMENICI - O senhor é um comunista assumido, não é? Ah, tem que ser. O que me irrita é quando o sujeito diz: “Não. Vem um regime de esquerda, mas vai ser diferente”. Diferente nada. Foram setenta anos de glória. Eu me lembro do Stalin dizendo para os soldados dele quando os alemães já estavam em Stalingrado: “Para Berlim!” É fantástico, não é? E venceram a reação, livraram o mundo do nazismo. Tem gente que tem receio de falar de Stalin porque os americanos deram a ele uma imagem de um calhorda qualquer. E não é. É um sujeito fantástico, preparou a Rússia para a luta necessária, mantendo uma indústria pesada. THIAGO DOMENICI - E o senhor já imaginou o comunismo no Brasil? Eu vivi aquele período do Prestes, quando a gente tinha esperança, a gente ia para a rua, a gente fazia comício. Depois veio a reação e, para eu falar com o Prestes, tinha que pegar um carro, trocar de carro no caminho, não é? Eram companheiros muito corretos. As melhores pessoas que eu conheci foram do Partido Comunista. Mesmo quando eles fogem da linha do partido, assim, teve o Araguaia, eles tinham idealismo, fizeram muito bem. Marighella era um sujeito fantástico... A gente se revolta e tem sempre esse lado espontâneo, de querer melhorar as coisas. GERSHON KNISPEL - Em 1964, quando a gente se encontrou em Tel Aviv, você começou seu período de exílio. O escritor e ministro da Cultura da França André Malraux até fez uma lei especialmente para você poder trabalhar no exílio. Eu fui antes do golpe. Fui em fevereiro. Lembro que, quando fui me despedir do Darcy Ribeiro, ele me disse: “Oscar, estamos no poder”. Depois de 15 dias na Europa, eu estava em Lisboa e ouvi a notícia do golpe pela rádio. De modo que fiquei por lá um pouco. Porque ainda
existe solidariedade. Cheguei à França e o André Malraux tirou um decreto com De Gaulle para eu poder trabalhar na França como um arquiteto francês. E na Argélia foi a mesma coisa, e na Itália. Ficava aflito lá, às vezes me emocionava com o negócio do Brasil, lembrando as coisas que estavam ocorrendo aqui. Mas fiquei por lá algum tempo e quando vim fui direto para a prisão. Não me soltavam. “O senhor tem que prestar declarações” etc. e tal. “Doutor Niemeyer, o que vocês pretendem?” Eu disse: “Mudar a sociedade”. E o sujeito que fazia as perguntas vira para o crioulinho que estava batendo a máquina: “Escreve aí: mudar a sociedade”. Ele virou-se para mim e disse: “Vai ser difícil, hein?”... Filho da mãe! Tratando de melhorar a vida dele!... MARINA AMARAL - E hoje o presidente do Congresso é um comunista. Pois é. As coisas melhoram. MARINA AMARAL - Qual sua visão do Congresso, da política em Brasília hoje? Tenho alguma esperança, porque o mundo está mudando. Você tem que se aproximar do povo para ter poder. Acho que a América Latina vai se organizar. A gente não sabe o que vai acontecer com o Bush, ele está desmoralizado, mas está com as armas, né? E é um tarado. Um dia eu disse aqui que ele era um filho da puta. Passou um tempo, um sujeito veio me entrevistar e ele soube disso e perguntou: “Doutor Niemeyer, o senhor disse que o Bush é um filho da puta?”. Eu disse: “Olha, não conheço a mãe dele, mas ele é um filho da puta”. Mas tem esperanças... O que me incomodou muito nessas CPIs foi a maneira com que um deputado questionava o outro. Eles estavam naquilo havia muitos anos, deviam ser amigos, fazer um inquérito mais educado, sem ofender. O Zé Dirceu merecia mais apoio, respeito. Ele era um sujeito que tinha lutado. Mas
\225_
#14_ Oscar Niemeyer
não foi sempre assim. Um período que me lembro de ser tranquilo da gente trabalhar foi o período do Capanema (Gustavo Capanema foi ministro de Educação de Getúlio Vargas no Estado Novo, depois criou o Instituto Nacional do Livro e o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Ele era um sujeito fantástico, não pensava em dinheiro, era teso mesmo. Queria a melhora do país, do ensino. Chamou Portinari, Drummond, chamou todo mundo. O Rodrigo de Mello Franco, do Patrimônio Histórico, passou a vida ligado ao Patrimônio, eu trabalhei com ele. Me lembro, a gente ia viajar, cidades mineiras, Ouro Preto, e eu sentava ao lado dele e ele me dizia: “Oscar, se a gente não correr, essas casas vão cair como baralho de cartas”. E defendemos o patrimônio artístico. MARINA AMARAL - O senhor falou do Chávez. O senhor acredita nessa união Fidel-Chávez-Morales? Acho que só não pode exagerar, se meter na vida de outros países, mas eles são importantes. Chávez é uma figura importante. CLAUDIUS - Você o conheceu? Não. Ele veio aqui no Rio uma ocasião, me avisou que vinha. Eu fui lá, mas ele demorou tanto, estava almoçando, que eu vim embora. THIAGO DOMENICI - E de onde o senhor tira tanta energia para o trabalho? Ah, não tem energia nenhuma. Eu faço projeto sentado. Porque é bom a gente pensar. Foi o desenho que me levou para a arquitetura, mas hoje eu sei que a arquitetura está na cabeça. Fica ali pensando, depois é só levantar e desenhar o projeto. GERSHON KNISPEL - Oscar, eu notei, quando trabalhamos juntos em várias ocasiões, que você dá muito sentido à palavra escrita.
_226/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Quando faz um projeto, você gosta de escrever sobre ele. Eu desenho, o sujeito não entende, então preciso explicar. Aí, você explica como é que aquilo vai funcionar. Então, tenho que fazer o projeto. Acabei o projeto, está tudo estudado, desenhado, escrevo o texto explicativo. Se tem uma dúvida, volto ao projeto. É a prova dos nove que a gente pode dar. Mas a arquitetura hoje é um movimento tão generoso do concreto armado e na realidade, você voltar ao passado, ver o primeiro átrio, a primeira curva, as catedrais, vai se repetindo... Mas o vocabulário plástico do concreto é tão mais rico, que com ele não tem fim. Eu digo sempre: “Não acredito em uma arquitetura ideal, se todos fizessem a mesma coisa seria o fim”. Mas o sujeito pode usar o concreto e tudo o que ele oferece, ele permite tudo. Agora, pode cada arquiteto fazer sua arquitetura, o que ele gosta, e não o que os outros gostariam que ele fizesse. Ele tem que ser decidido, por isso eu conto sempre: fui chamado pelo prefeito do Havre, na França. Cheguei lá, um lugar frio, vento, a praça na beira do mar, eu disse: “Olha, eu queria afundar a praça quatro metros”. Ele me olhou espantado. Nunca lhe pediram para afundar uma praça enorme quatro metros. Mas ele fez. Então, na praça do Havre, você anda pela calçada e está vendo a praça embaixo. Você é convidado a descer porque tem um teatro dentro dela, o sujeito desce e vê a praça. Então é uma praça diferente, não conheço outra no mundo. Ela foi tombada. E teve um crítico italiano, não me lembro do nome agora, um sujeito muito duro, que declarou que ele põe a praça do Havre entre as dez melhores obras de arquitetura contemporânea. Por quê? Porque é diferente. Então eu digo, tem que ser diferente. A obra de arte tem que criar emoção e surpresa. Tem uma história engraçada, não sei se dá para publicar. Uma vez, Capanema quis fazer uma exposição num prédio antigo lá do Castelo. E o prédio era
ruim de arquitetura. Nós queríamos dar mais ênfase à exposição, então penduramos uma lona na frente do prédio, disciplinamos a fachada né? E fizemos uma marquise de madeira, saindo assim do prédio com uma curva para marcar a entrada. Então, quatro horas da manhã, vinham dois operários andando e um deles parou e disse: “Caramba, é tão bonito que não parece real”. Quer dizer, o que é isso? O sujeito do povo não participa da arquitetura, mas quando é bonito, ele tem um momento de prazer. CLAUDIUS - Oscar, do que você fez, o que gosta mais? Digamos que você tenha que nomear cinco. Ah, são temas diferentes. Esse projeto do museu agora (de Brasília) eu gosto porque é um exemplo do que se pode fazer com concreto armado. É o concreto armado utilizado com toda a sua possibilidade. É a cúpula de 80 metros, os tirantes que sustentam o mezanino, tem as tampas, é um espetáculo estrutural. O museu de Niterói, por exemplo, é bonito. E arquitetura tem que ser fácil de explicar. O museu de Niterói, eu cheguei lá, vi a paisagem, é o mar defronte. Aí, as montanhas do Rio. Uma paisagem que eu tinha de preservar. Então subi o prédio, preservei a paisagem, ele está solto no ar. De modo que a arquitetura funciona quando cria emoção, quando o sujeito fica espantado: “Que merda é essa?”. CLAUDIUS - Mas o MAC, o museu de Niterói, ainda tem uma coisa que é uma sacação incrível. Está dentro de um lago e tem um determinado ângulo em que você vê a água do lago em que ele está se confundindo com o mar. É, eu fiz de propósito. Fiz o espelho d’água que... MARCELO SALLES - E quando você está lá dentro parece que está no mar. Porque não vê o chão, só vê a água.
Eu digo sempre: “Não acredito em uma arquitetura ideal, se todos fizessem a mesma coisa seria o fim”. Mas o sujeito pode usar o concreto e tudo o que ele oferece, ele permite tudo. Agora, pode cada arquiteto fazer sua arquitetura, o que ele gosta, e não o que os outros gostariam que ele fizesse. Ele tem que ser decidido, por isso eu conto sempre: fui chamado pelo prefeito do Havre, na França. Cheguei lá, um lugar frio, vento, a praça na beira do mar, eu disse: “Olha, eu queria afundar a praça quatro metros”. Ele me olhou espantado. Nunca lhe pediram para afundar uma praça enorme quatro metros. Mas ele fez. Então, na praça do Havre, você anda pela calçada e está vendo a praça embaixo. Você é convidado a descer porque tem um teatro dentro dela, o sujeito desce e vê a praça. Então é uma praça diferente, não conheço outra no mundo. \227_
#14_ Oscar Niemeyer
Uma vez eu estava com o Darcy conversando e ele me contou que fez uma reunião para discutir o problema do índio e o índio ficou lá calado. Estava no fim da reunião, ele virou para o índio e disse: “Você não quer dizer alguma coisa?” O índio disse: “Não”. “Por quê?” “Porque estou com preguiça.” Então, a arquitetura é tão clara, a gente explica: concreto armado, o caminho a seguir, usá-lo em toda a sua plenitude é função do arquiteto, reclamar que a arquitetura é injusta é função do arquiteto, reclamar que a arquitetura não tem importância... Diante da vida, não tem mesmo. O importante é a vida, o sujeito viver bem, de mão dada. De modo que, quando o Darcy me disse isso, eu fiquei pensando: vai ver que esse índio já estava cheio de tanta promessa. De tanta discussão, sabendo que tudo era fantasia. CLAUDIUS - Palácio do Itamaraty, em Brasília? Eu gosto, mas gosto mais dos outros prédios. Não tem uma novidade assim. Ele é bonito, o jardim é bonito. CLAUDIUS - E (a sede da editora) Mondadori, na Itália? Mondadori também. Você sabe que o Mondadori veio aqui, eu não o conhecia, e disse: “Doutor Niemeyer, estive em Brasília, vi o Palácio do Itamaraty e aquela colunata, eu queria um projeto lá (na Itália), bonito, para o senhor fazer uma colunata daquela”. Eu disse: “Está bem, vou fazer”. Mas lógico que eu não ia fazer igual. Em vez de fazer uma colunata como a do Itamarati, em que as colunas se repetem em espaços iguais, eu queria mudar. Não adiantava eu querer mudar o fecho das colunas, tinha que mudar os espaços entre elas. Então fiz espaços de 15 metros, 5 metros, 3 metros, uma coisa assim meio musical, e ficou diferente. E as colunas do Palácio do Itamaraty sustentam o teto, mas as colunas da Mondadori susten-
_228/
18 entrevistas _ revista caros amigos
tam cinco andares. Tem as colunatas, as vigas em cima e tudo pendurado em tirantes, os cinco andares. De modo que a obra da Mondadori, como obra de arquitetura, de aproveitamento da técnica, tem muito mais impacto. É muito diferente. Garanto que nenhum de vocês viu um prédio em que as colunas têm espaços diferentes entre elas. É uma coisa que a técnica permite, uma surpresa que cabe ao arquiteto exprimir em seus trabalhos. CLAUDIUS - Agora, tem umas coisas que se destacam: capelinha do Palácio da Alvorada, que acho um gesto aquilo ali. É. O tamanho do prédio ajuda. Em um prédio público, você tem que usar a técnica para ficar e mostrar a época que você está vivendo. Só era possível fazer assim. Agora, coisa pequena... Mas eu, por exemplo, não faço barroco. Trabalho nas próprias estruturas. Não faço detalhe bem desenhado assim. A forma que eu produzo é nas estruturas, criando estruturas diferentes. THIAGO DOMENICI - Antes da arquitetura é verdade que o senhor quis ser jogador de futebol? Eu joguei no juvenil do Fluminense. Meu irmão é que jogava no segundo time. THIAGO DOMENICI - O senhor jogava em qual posição? Joguei só uma vez em campo, era uma preliminar (do Fla-Flu, no estádio das Laranjeiras), mas eu jogava no colégio. O goleiro do Flamengo naquele tempo era o Amando Benigno. Ele foi meu colega no colégio. Lembro que, depois que saímos do colégio, já formados, ele me telefonou querendo que eu fosse treinar lá no Flamengo. Ele me conhecia do futebol na terra, em um campo assim de salão. Mas futebol para mim é diversão. É fantástico, você olha lá o jogo, quem entende vê a evolução de cada jogada...
A arquitetura é tão clara, a gente explica: concreto armado, o caminho a seguir, usá-lo em toda a sua plenitude é função do arquiteto, reclamar que a arquitetura é injusta é função do arquiteto, reclamar que a arquitetura não tem importância... Diante da vida, não tem mesmo. O importante é a vida, o sujeito viver bem, de mão dada. THIAGO DOMENICI - O senhor tem admiração por outros esportes? Quando eu era, garoto era abusado, frequentei o Gracie (Hélio Gracie foi campeão e professor de jiu-jítsu). Sempre bom fazer um exercício, né? MARINA AMARAL - Voltando à política, em qual momento histórico brasileiro o senhor se sentiu mais esperançoso, mais próximo da mudança que o senhor almeja? Foi com Prestes. Lembro que o Prestes foi no meu escritório, quando ele chegou de fora, eu falei: “Senhor...”. Ele disse: “Senhor é senhor de engenho ou Nosso Senhor”. E depois eu disse a ele: “Olha, o seu trabalho é mais importante que o meu, você fica com o meu escritório”. Saí e fui arranjar um outro lugar para trabalhar. E foi engraçado porque eu estava fazendo o Banco Boavista. O presidente do Banco Boavista, barão de Saavedra, era um sujeito muito educado, um sujeito muito bom, aliás. Ele telefonava às vezes para mim. Uma vez, telefonou e o pessoal: “Partido Comunista Brasileiro”. Ele tomou um
susto e no dia seguinte me perguntou: “Vem cá, o que tu conversas com o Prestes?”. “Nós falamos de mudar as coisas, que um dia as coisas vão mudar.” E vão mudar, lógico. GERSHON KNISPEL - Quando Fidel esteve aqui, ele nos abraçou e disse: “Nós somos os três últimos comunistas do mundo”. Será? Não, acho que existe muito comunista no mundo. Todo sujeito que tem a revolta dentro dele é um comunista. O que a gente quer? Acho que é importante hoje o sujeito ser modesto. Quando vejo o sujeito pensando que é importante, acho uma merda. Nada é importante. Agora, tem de melhorar o mundo, lutar, fazer a vida mais justa, os homens se entenderem. Estamos no mesmo barco. Para ser coerente, temos aqui uma aula de filosofia por semana. CLAUDIUS - Quem é o professor? Ele é físico e a aula que dá é de filosofia com ciência. Anteontem mesmo, ele falou aqui de uma cratera imensa que descobriram no polo. Acham que é responsável até pela separação da África da América. A ruptura que houve foi no momento em que um meteoro fantástico caiu em cima do polo e fez esse buraco enorme. A terra tremeu e se separou ali na África. MARINA AMARAL - E quem assiste às aulas com o senhor? O pessoal do escritório. A gente tem que ser coerente. Tem um rapaz aqui, ele é modesto, quer ser arquiteto. Então pago a universidade para ele. Mas ele tem que ler um livro e me mandar uma notinha de dois em dois meses. Agora, você pergunta para ele quem é Machado de Assis, ele sabe; quem é Eça de Queirós, ele sabe. Porque um dia eu estava aqui no escritório com umas estudantes, duas moças conversando, e uma perguntou: “Você já leu Eça de Queirós?”. E a outra perguntou: “É filho da Rachel de Queiroz?”.
\229_
#14_ Oscar Niemeyer
THIAGO DOMENICI - O senhor tem uma preocupação muito grande com o céu, que as pessoas possam olhar o céu. Se o senhor fosse filosofar sobre o céu, o que diria? Esse universo que não é nosso é tão imenso que o sujeito tem que se sentir pequenininho. Realmente é fantástico. O tempo e os movimentos, ah, o universo é fantástico. E quando vejo um beija-flor, por exemplo, é tão bonito, é tão benfeito, parece uma coisa feita em um concurso, assim, de movimentar as asas, é um mistério. RAFIC FARAH - E Deus? Você não cogita que exista uma entidade superior criando o beija-flor? Criando essa harmonia do universo? Ah, eu sou realista. Pode ser. Eu não acredito em religião. Mas gosto de conversar com os padres. Tem um que foi arcebispo que já veio almoçar aqui. Porque fui criado em uma casa e tinha o retrato do papa na parede, na sala de visitas. Meu avô era católico, ministro do Supremo Tribunal Federal durante muito tempo. Das lembranças que às vezes eu falo dele, é que ele morreu teso. Nós vivíamos em uma casa grande em Laranjeiras, ele fez o andar de cima para minha mãe, morávamos no andar de cima, e tinha muita gente que visitava a casa. Aí, um dia, ele morreu, morreu teso, o que eu achei ótimo. A gente viu que o dinheiro não interessa mesmo. Com a casa hipotecada, a vida que levávamos era mais ou menos tranquila, ele era uma pessoa conhecida; isso mudou completamente de um dia para o outro. Eu passei por esses momentos: uma vida não de luxo, mas de economia tranquila assim, para no dia seguinte não ter nada. Foi ótimo. Sempre achei que o dinheiro não tem importância. Por isso, quando Juscelino me telefonou: “Oscar, eu sei que você tem problema de dinheiro, queria que você fizesse o projeto do Banco do Brasil e do Banco do Desenvolvimento Econômico pela tabela do Instituto”, eu disse: “Assim
_230/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Sempre achei que o dinheiro não tem importância. Por isso, quando Juscelino me telefonou: “Oscar, eu sei que você tem problema de dinheiro, queria que você fizesse o projeto do Banco do Brasil e do Banco do Desenvolvimento Econômico pela tabela do Instituto”, eu disse: “Assim eu não faço”. “Por quê?” “Porque sou funcionário.” Para viver tem que trabalhar. O trabalho eu faço, eu divido. Meu trabalho tem duas etapas. A primeira é o projeto. Faço sozinho porque acho que arquitetura é uma coisa muito pessoal. Faço naquela prancheta ali. Quando está pronto o projeto, chamo um escritório de fora, na maioria dos casos é o da minha neta, e o escritório desenvolve o trabalho. Assim tenho mais folga de tempo, né? Posso ver os amigos, a gente bate papo, conversa.
eu não faço”. “Por quê?” “Porque sou funcionário.” Para viver tem que trabalhar. O trabalho eu faço, eu divido. Meu trabalho tem duas etapas. A primeira é o projeto. Faço sozinho porque acho que arquitetura é uma coisa muito pessoal. Faço naquela prancheta ali. Quando está pronto o projeto, chamo um escritório de fora, na maioria dos casos é o da minha neta, e o escritório desenvolve o trabalho. Assim tenho mais folga de tempo, né? Posso ver os amigos, a gente bate papo, conversa. RAFIC FARAH - Quantos projetos você está tocando agora? Estou fazendo, na Espanha, um museu e um conjunto grande, um auditório. MARINA AMARAL - O senhor sempre acompanha suas obras ou algumas vê já prontas? Eu acompanho a obra. Por exemplo, o museu de Niterói. Se vocês forem ver, eu sempre me preocupei com a ligação da arquitetura com as artes. No tempo do Capanema, foi levada a sério essa ligação da arquitetura com as artes. Quando fiz a igreja da Pampulha, chamei o Portinari. A fachada toda de azulejo com desenho dele. Nesse átrio que estou fazendo em Niterói, não havia dinheiro para chamar mais ninguém, então eu mesmo fiz o desenho da fachada. No azulejo, as mulheres dançando, tal. De modo que isso é importante. Mas, nesse museu, fiz um croqui para uma exposição da minha filha, um croqui assim com um comício, o pessoal chegando, aquelas bandeiras, o entusiasmo, fiz um croqui de 80 centímetros. Agora estou desenvolvendo para 40 metros. Para o teatro. Quem entrar no teatro vai tomar um susto. Então estou preocupado com, de desenho de 80 centímetros, fazer 40 metros de azulejo! De modo que o trabalho tem essas coisas que estimulam, que a gente gosta de participar. O povo fala da arquitetura às vezes, mas não é esse
caso. Para mim, é engraçado chegar lá e ver em uma parede um croqui que eu fiz tão pequeno. Lá. E cria espanto, quando o povo chegar lá e vir. E, por mim, isso tem que acontecer. MARINA AMARAL - O senhor conversa com os operários? Com o mestre de obras, claro, a gente sempre conversa. Me lembro, no tempo de Brasília, eles eram amigos nossos, a gente ficava lá o dia inteiro. Brasília foi uma aventura difícil. Lembro quando um dia Juscelino me chamou. O primeiro contato que tive com ele foi quando fui fazer a Pampulha. Foi a primeira obra dele como homem público, meu primeiro trabalho e o primeiro projeto que o Marco Paulo Rabello acompanhou como engenheiro. Então, lembro que Juscelino me explicou o programa com aquele entusiasmo dele, depois me disse: “Olha, preciso do projeto pronto até amanhã”. Aí fui para o hotel. Eu era moço, trabalhei a noite inteira e entreguei o projeto de manhã. E essa coisa, de o projeto ficar pronto para amanhã, eu vivi em Brasília o tempo todo. Ele queria trabalhar. Então, Brasília foi uma aventura, porque a gente não tinha material suficiente para projetar, a gente tinha que achar. É engraçado, porque, apesar do tempo curto, eu não procurei fazer uma arquitetura mais fácil, não. Fiz as colunas mais complicadas, uma forma diferente, tem que fazer no chão, depois acomodar as placas de mármore... De modo que Brasília foi feita assim. Sem a gente procurar o caminho mais lógico. A gente queria fazer diferente. De modo que quem vai a Brasília, estou tranquilo, pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. E, para nós, na arquitetura, isso é o máximo. Tem que ser diferente. MARINA AMARAL - Você e Juscelino eram amigos? Não, não. Eu o conheci prefeito, quando estive
\231_
#14_ Oscar Niemeyer
na casa em que ele morava. Mas era um sujeito bom, que pensava nos que trabalhavam com ele. Israel Pinheiro foi fantástico, digno, corajoso. Sem Israel Pinheiro, Brasília não ficava de pé. E teve Joaquim Cardozo, que era calculista, um poeta, um sujeito que compreendia o que a gente queria. Depois teve o Lúcio (Costa) no Plano Piloto. De Brasília, eu guardo uma lembrança boa, não apenas da obra realizada, mas do ambiente de camaradagem. Por exemplo, fiquei em Brasília sozinho com um pessoal, então a gente tinha que se adaptar. Ir para a cidade, tomar uma bebida lá, dançar. Quando fui para Brasília, não levei apenas arquitetos, fiz questão de levar jornalistas, levei até um jogador de futebol que não lembro o nome, levei gente de fora da profissão, para bater um papo. Tem que ter uma pausa para a gente conversar outras coisas. Levei um amigo meu que era médico, um sujeito muito engraçado. De modo que me preparei para aguentar e não ficar só falando de arquitetura...
É tudo a serviço do capitalismo. O pobre está fodido. Não tem condição de fazer nada. E a miséria que vem do interior, essa então é impossível. Lembro que o Prestes contou que, uma vez que ele estava na Coluna, passou numa zona muito pobre do interior do Brasil e tinha um barraco. Uma moça veio e pediu uma ajuda, qualquer coisa, ele perguntou: “Você mora sozinha?”. “Não, tenho uma irmã.” “Por que ela não vem?” “Só temos um vestido.” Miséria...
GERSHON KNISPEL - Você não muda suas ideias desde aqueles tempos, não é? O que eu acho que tem que mudar é o principal, que a vida pelo menos seja igual para todos, mas saber que está colaborando, que está ajudando outras pessoas a viver, sendo auxiliadas, sempre trabalhar junto, é um grupo, não é? Cada um dá a sua parcela de contribuição. E depois tem os que constroem, que é importante, e os que vão usar, e aí a gente vê, a arquitetura não é tão importante, que trabalhamos só para os ricos ou para os governos, os pobres ficam olhando de longe e achando aquilo bonito quando é bonito, achando graça quando é diferente.
MARINA AMARAL - O senhor lê os jornais de manhã, tem paciência para ler os jornais? Leio tudo.
MARCELO SALLES - Na sua opinião, em que medida os meios de comunicação são importantes para o sistema capitalista?
_232/
18 entrevistas _ revista caros amigos
MARINA AMARAL - Nisso o senhor vê que a gente evoluiu, que a gente é menos miserável? A gente sente que, pelo menos, no governo Lula, ele foi operário e se preocupa com isso. Na política externa, mesmo o pessoal que segue com o Lula é muito bom. Esse ministro é ótimo, tem outros também que são meus amigos, gente muito boa, de modo que ele mantém uma política equilibrada. Não tem o arrojo que a gente gostaria, não digo que será igual ao Chávez, em querer mudar as coisas com mais ímpeto...
THIAGO DOMENICI - Queria saber como é um pouco a rotina do senhor... Ah, acordo, venho aqui, peço para lerem o jornal, porque tenho dificuldade para ler, converso um pouquinho, quero trabalhar, mas não posso, todo dia vem imprensa, não dá. Eu atendo, porque, lógico, tem que atender, chateado de me repetir muito, porque as perguntas são as mesmas, mas com vocês não, vocês são mais evoluídos, progressistas e decerto são como eu, sabem que o que é realmente importante é mudar o mundo. Mas depois pego minha prancheta ali, trabalho até de tarde. De tarde vêm os amigos, Renato Guimarães, Sabino Barroso, Rômulo Dantas, Sussekind, as pessoas mais diversas, e
a gente discute e tal... É isso, recebo os amigos, às vezes a gente se reúne de noite, bate papo. No tempo do João Saldanha, em que vinham os jornalistas amigos dele, nós fizemos o Cebrade (Centro Brasil Democrático). Foi um movimento muito importante, tem muito deputado aí que foi do Cebrade e agora está esculhambando a gente, mas o Cebrade teve aquele acidente na festa que estávamos organizando e os sujeitos foram lá, dois militares, e a bomba explodiu junto com eles. MARINA AMARAL - Riocentro? Riocentro. De modo que, naquele tempo, me reunia sempre aqui com o João e os outros para discutir negócios variados. Havia vontade de mexer nas coisas. Mas agora tentamos reunir o Cebrade outra vez, mas não deu. Um dia fui numa entrevista aí com estudantes, tinha estudante à beça. Primeiro falou um deputado que era advogado importante, morreu há pouco tempo, falando sobre a reforma agrária com muita ênfase, sobre o socialismo, sobre Stedile. Na minha vez, eu disse: “Olha, quando a vida se degrada e a esperança sai do coração dos homens, só a revolução”. Aí eles bateram palma e tudo e depois foram para a praia. É uma merda. CLAUDIUS - A revolução é a esperança, né? Lógico, tem que falar sobre a revolução ou então a gente se adaptar a esse regime. Eu acho que está caminhando, a América Latina já compreendeu que tem que se organizar, se armar e não sabe o que vem por aí. O Bush está desmoralizado. O império dos ingleses virou colônia americana. Invadiram os árabes, é difícil. A religião prende as pessoas, né? O Irã se manifestando, recusando o que eles querem, parar com as experiências atômicas. Um dia estoura, vem o inesperado, aí a gente vai ver o que é que dá. Mas tem que caminhar sempre... Só assim.
De Brasília, eu guardo uma lembrança boa, não apenas da obra realizada, mas do ambiente de camaradagem. Por exemplo, fiquei em Brasília sozinho com um pessoal, então a gente tinha que se adaptar. Ir para a cidade, tomar uma bebida lá, dançar. Quando fui para Brasília, não levei apenas arquitetos, fiz questão de levar jornalistas, levei até um jogador de futebol que não lembro o nome, levei gente de fora da profissão, para bater um papo. Tem que ter uma pausa para a gente conversar outras coisas. Levei um amigo meu que era médico, um sujeito muito engraçado. De modo que me preparei para aguentar e não ficar só falando de arquitetura...
\233_
_234/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#15_ Raquel Rolnik _
Abril de 2011
Direito à moradia versus especulação imobiliária No final de 2015, a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik lançou o livro Guerra dos Lugares - A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças. Nele, mostra como a “financeirização da moradia” torna ainda mais precária a vida e priva de um direito básico a parcela mais carente da população. Sua análise passa por vários lugares do mundo, do Chile à Croácia, Cazaquistão, Estados Unidos, Espanha e Irlanda, onde muitos acabaram perdendo suas casas mas não suas dívidas, em alguns casos - em momentos de crise e reveses do mercado financeiro, enquanto os bancos eram socorridos pelos governos. Uma experiência que acumulou ao longo dos seis anos em que atuou como relatora especial para o Direito à Moradia Adequada na Organização das Nações Unidas (ONU). Trata também de outra questão que considera nevrálgica: o próprio conceito da propriedade privada individual. Para ela, esse modelo único impede o surgimento de novas e diversas alternativas para resolver a questão da moradia. Estudiosa do tema desde a década de 70, lembra deste período como um marco crucial na sua trajetória futura. Tanto pela efervescência política da época como pela oportunidade de acompanhar, pelo trabalho de sua professora Ermínia Maricato, o processo de rearticulação de movimentos populares sociais que buscavam a regularização e a urbanização de loteamentos e favelas.
Raquel Rolnik é arquiteta e urbanista, professora da USP. Participou do movimento estudantil nos anos 70 e se aproximou do PT nos primeiros anos do partido. Foi assessora da bancada petista na Câmara dos Deputados, diretora de Planejamento da Cidade de São Paulo na gestão Luiza Erundina e secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades no governo Lula. Atuou como relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o Direito à Moradia Adequada por dois mandatos (2008-2011 e 2011-2014). ENTREVISTADORES Bárbara Mengardo Cecília Luedemann Débora Prado Otávio Nagoya Paula Salati Tatiana Merlino
Para a urbanista, a moradia deve ser tratada como um direito, com políticas habitacionais que respeitem as particularidades de cada local. No mais, afirma, “é política econômico-financeira”.
\235_
#15_ Raquel Rolnik
DÉBORA PRADO - A gente sempre começa perguntando como foi a sua formação e a sua trajetória profissional e política. Eu acho legal, porque essa trajetória explica muito as minhas posições, hoje, e a leitura que eu faço das coisas. Eu estudei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) na Universidade de São Paulo (USP) no início dos anos 1970, e isso foi absolutamente determinante para mim, porque eu pude viver, não só na FAU, que é uma escola muito especial do ponto de vista de uma abertura para as dimensões humanas, artísticas e técnicas, mas também porque os anos 1970 foram os anos de luta contra a ditadura. E eu tive a oportunidade, o privilégio, de poder participar do movimento estudantil, da organização dos movimentos de luta contra a ditadura nos anos 1970. E também tive a oportunidade, através da professora Ermínia Maricato, que foi minha professora naquele momento, tinha acabado de entrar como professora, com os movimentos sociais e populares em torno da luta pela moradia que também estavam se rearticulando naquele momento. Então, naquele momento, era um movimento pela regularização dos loteamentos clandestinos, uma luta por conseguir urbanizar e regularizar favelas e loteamentos no Brasil. Era o começo da sua voz, no sentido: “Nós estamos aqui e queremos ser objeto de políticas”. Então, eu tive esse duplo contato, essa dupla inserção. Como movimento pelas liberdades democráticas, naquele momento, pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão, através do movimento estudantil na USP e na relação com os movimentos sociais e populares, propriamente quando o tema da questão aparece para mim. TATIANA MERLINO - Então a faculdade colocou você em contato com os movimentos urbanos? Já na FAU, também, tive o enorme privilégio de poder trabalhar em conjunto com o Nabil Bonduki, que era meu colega de classe naquele mo-
_236/
18 entrevistas _ revista caros amigos
mento. Nós, por um absoluto acaso também, estávamos desenvolvendo um projeto de pesquisa na área de sociologia dentro da escola e o nosso orientador, na época, que era o Gabriel Bollaffi, viajou e nos colocou em contato com o professor Lúcio Kowarick. Naquele momento, o professor Kowarick estava no âmbito, primeiro, do Cebrap, depois do Cedec, começando um processo, do ponto de vista intelectual, de compreender o processo de formação da periferia e a questão da espoliação urbana e da exclusão territorial. Nós fomos estagiários do Lúcio Kowarick, depois foi com ele que nós fizemos a nossa iniciação científica junto com o Gabriel Bollaffi. Então, o nosso primeiro trabalho de iniciação científica é um trabalho sobre a formação da periferia de São Paulo. É um trabalho que, de alguma maneira, inaugurou com um conjunto de trabalhos de pesquisadores na área da sociologia urbana, dos estudos e urbanistas, que começaram a denunciar o processo de formação das cidades brasileiras, através de pesquisas de campo. Então, isso também foi muito determinante na minha trajetória. E, finalmente, teve um terceiro pé dessa trajetória, também, que ainda estudante, eu fui estagiária da Coordenação Geral de Planejamento de São Paulo, a antiga Cogep, que depois virou Secretaria de Planejamento, quando o secretário era o coordenador da Cogep, depois virou secretário, era o Candido Malta Campos Filho, urbanista. Então foi a primeira experiência no poder público, trabalhando no planejamento urbano, entrando em contato com as questões da cidade, do ponto de vista da gestão da política urbana. TATIANA MERLINO - Você combinou o ensino e a pesquisa com a gestão pública. Por isso que eu falei das três vertentes, acabou virando a minha história e o meu trabalho, porque o meu objeto nunca deixou de ser o direito à cidade, o direito à moradia, nunca deixou de
eu tive a oportunidade, o privilégio, de poder participar do movimento estudantil, da organização dos movimentos de luta contra a ditadura nos anos 1970. Eram movimentos pela regularização dos loteamentos clandestinos, uma luta por conseguir urbanizar e regularizar favelas e loteamentos no Brasil. Era o começo da sua voz, no sentido: “Nós estamos aqui e queremos ser objeto de políticas”.
ser pensar isso do ponto de vista de uma política urbana, de um planejamento urbano. E eu sempre tive uma trajetória profissional com um pé na academia, fazendo pesquisa, sendo professora. Eu dei aula na Belas Artes, numa escola de arquitetura que foi muito inovadora e interessante nos anos 1980, mas depois foi totalmente desmontada; depois, 25 anos na PUC de Campinas, como professora na área de urbanismo, e agora, eu sou professora na FAU, há dois anos. Então eu tive uma trajetória acadêmica, de pesquisadora e professora, com mestrado na FAU, doutorado nos Estados Unidos, na New York University. Mas, sempre tive, paralelamente, uma trajetória profissional como urbanista. E começou ali, na Cogep, como estagiária, mas eu tive outros momentos bem importantes, porque eu trabalhei como técnica na CDHU, para compreender o desenvolvimento habitacional e urbano do estado de São Paulo. E, depois, quando o Partido dos Trabalhadores já se constitui como uma bancada na Assembleia Legislativa,
em 1987, eu fui, como funcionária do governo do Estado, comissionada para trabalhar com a bancada do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma assessoria para a política urbana e habitacional na bancada. Era uma bancada excepcional. Simplesmente, eram deputados estaduais naquele momento: a Luiza Erundina, a Clara Ant, o José Dirceu, o José Machado, o Celso Daniel, a Telma de Souza, entre outros. Era uma bancada incrível. Eu pude trabalhar junto com eles, fazer assessoria, também uma ligação estreita, que comecei a estabelecer com o PT, desde a sua fundação, mas através da formulação da política urbana e habitacional do PT. E foi por conta dessa inserção na Assembleia Legislativa, desse contato com os deputados do partido, que, quando a Luiza Erundina ganha a eleição como prefeita, em 1989, eu pude virar diretora de Planejamento da área urbana, em São Paulo, trabalhando na Secretaria de Planejamento, cujo secretário era o Paul Singer, e o Guido Mantega era o diretor da área de orçamento, naquela composição incrível que foi o governo da Luiza Erundina. Tinha a Marilena Chaui na Cultura... Pessoas absolutamente excepcionais. DÉBORA PRADO - Paulo Freire, na Educação... Paulo Freire na Educação... Enfim, a experiência, então, na Secretaria Municipal de Planejamento em São Paulo, na Sempla, trabalhando na formulação do Plano Diretor, com a Ermínia Maricato na Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano; o Nabil Bonduki coordenador, colocando ali uma equipe muito interessante que se constituiu naquele momento. Isso foi muito importante para mim, inclusive tive que abandonar meu doutorado no meio porque me envolvi totalmente com a gestão municipal. E, quando acabou a gestão municipal, até para conseguir entender, processar e digerir tudo aquilo que eu aprendi, enfrentei na prefeitura, eu escrevi a minha tese de doutorado, que se
\237_
#15_ Raquel Rolnik
chama A cidade e a Lei. É um trabalho muito estruturador do meu pensamento, porque eu penso e trabalho muito na relação entre a legislação urbanística, a regulação urbanística e o modelo de exclusão territorial, o modelo de desenvolvimento urbano em nossas cidades. Então, acabando essa trajetória na área de planejamento urbano, eu volto para a academia para dar aula, para continuar o meu trabalho como professora e pesquisadora. E sempre, desde lá nos anos 1970, sempre tive contato com os movimentos sociais e populares, e sempre participei muito dos processos de capacitação, de formação de lideranças populares, desde o Instituto Cajamar, depois fundamos o Instituto Polis. Eu sou uma dos fundadores do Instituto Polis, uma ONG voltada para a formação na área da democratização da gestão, na área do fortalecimento dos atores sociais para uma gestão democrática. E, dentro do Polis, eu constituí o grupo de urbanismo, que tem várias linhas de trabalho, e fiquei mais de dez anos no Polis, trabalhando e fazendo projetos, sempre muito em contato com os movimentos sociais, principalmente os movimentos de moradia, que naquela altura já tinham crescido, e numa articulação, desde a Constituinte, nos anos 1980, pela reforma urbana. Foi uma articulação ampla de movimentos sociais e populares, de urbanistas, de engenheiros, de sindicalistas, de arquitetos e engenheiros, de advogados defensores dos direitos das populações de menor renda. Então, dessa coalizão do Fórum de Reforma Urbana, também participei da construção. Participei da apresentação da emenda popular para a Constituinte, da negociação – eu fui a pessoa, graças a minha relação com a bancada do PT no Congresso, naquele momento, acompanhando a negociação – dentro da Constituinte, do capítulo de política urbana para a Constituinte, defendendo a emenda popular, lá dentro. E todo esse caminho alimentou muito todo meu trabalho.
_238/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A gestão do desenvolvimento urbano, além de viabilizar os negócios da cidade, tem que viabilizar, também, que a cidade seja equilibrada do ponto de vista socioambiental. Isso significa que a terra e a propriedade urbana têm que cumprir uma função social, além de cumprir a sua função de patrimônio privado de que é o dono. E que é a política urbana, o planejamento urbano, o ordenamento territorial, que define qual é a função social de cada pedaço da cidade. Uma das funções sociais, por exemplo, da terra urbanizada, para moradia, é ser bem localizada, quando uma parte da população não tem condições de comprar essa moradia no mercado. Então, esse eixo da função social da cidade, da propriedade, de uma política que vai nessa direção é também um dos eixos da reforma urbana.
DÉBORA PRADO - Como você define o seu trabalho? Meu trabalho é, ao mesmo tempo, um trabalho de ativista, da luta pela moradia e pela cidade, mas é um trabalho de professora, pesquisadora, formadora, e é um trabalho também de reflexão. Então, eu acho que o conjunto dessa trajetória acabou me levando ao governo federal, ao governo Lula, onde eu tive o privilégio de montar, junto com outras pessoas que também fizeram parte dessa luta, o Ministério das Cidades. Um ministério novo, com uma ideia inovadora, sob o comando do Olívio Dutra, com a Ermínia Maricato como secretária-executiva do ministério e uma equipe. Eu fui a secretária dos Programas Urbanos, uma secretaria para tratar dos temas do planejamento urbano dentro do ministério e política fundiária, política de terras. E eu fiquei quatro anos no governo Lula como secretária, me dedicando, também, de corpo e alma, totalmente, a esse trabalho. Fiquei no primeiro mandato, em 2005, longe da crise do mensalão. O governo, digamos, foi obrigado a passar o ministério para o Severino Cavalcante, ou seja, PP, que indicou o Marcio Fortes, como ministro. A direção do Ministério das Cidades passou a ser uma direção totalmente diferente. Eu permaneci, ainda, a pedido do centro do governo, do gabinete do Lula e dos próprios movimentos, porque nós estávamos no meio da campanha dos Planos Diretores Participativos. Eu ainda fiquei. O ministro novo me convidou para ficar e fiquei, mas para mim foi dificílimo. No final de 2006, eu pedi para ser exonerada. O ministro pediu para eu ficar até a próxima eleição, para ver se ele ficaria ou não. Esperamos a eleição, Lula foi reeleito, o ministro foi reafirmado como ministro, eu pedi para sair e para voltar para São Paulo. TATIANA MERLINO - Por que você saiu do ministério? Foi alguma coisa específica, foi um acúmulo, foi todo esse período?
Não, não tem um fato específico, mas tem uma guinada na política habitacional e urbana do Brasil. Eu acho que a guinada foi basicamente a seguinte... E, de novo, eu entendo as razões da substituição do ponto de vista da governabilidade num sistema como o nosso do presidencialismo de coalizão (risos), que acho uma discussão muito complexa, que puxa para trás! É muito complicado esse presidencialismo de coalizão que nós temos. Então, entendo as razões, do ponto de vista político, da governabilidade. Entretanto, acho que foram acontecendo duas coisas. A primeira coisa foi que, quando nós fomos montando o Ministério das Cidades, ele foi montado em cima de uma aposta muito ligada à agenda da reforma urbana. A agenda da reforma urbana tinha, historicamente, um tripé, desde a primeira Constituinte. Um pedaço dela é a afirmação dos direitos dos posseiros, dos ocupados, dos ocupantes, daqueles que constituíram assentamentos informais, populares, por absoluta falta de acesso à terra urbanizada e à moradia. Então, o seu direito no sentido da sua inserção mais completa na cidade, a regularização, a urbanização, a inclusão territorial desses assentamentos que são mais de 70% da área urbana no Brasil. O segundo ponto da agenda (da reforma urbana) é o que a gente chama de “a implementação de um modelo baseado na função social da cidade e da propriedade”. A ideia de que a gestão do desenvolvimento urbano, além de viabilizar os negócios da cidade, tem que viabilizar, também, que a cidade seja equilibrada do ponto de vista socioambiental. Isso significa que a terra e a propriedade urbana têm que cumprir uma função social, além de cumprir a sua função de patrimônio privado de que é o dono. E que é a política urbana, o planejamento urbano, o ordenamento territorial, que define qual é a função social de cada pedaço da cidade. Uma das funções sociais, por exemplo, da terra urbanizada, para moradia, é ser bem localizada, quando uma parte da população não
\239_
#15_ Raquel Rolnik
tem condições de comprar essa moradia no mercado. Então, esse eixo da função social da cidade, da propriedade, de uma política que vai nessa direção é também um dos eixos da reforma urbana. E, finalmente, o terceiro eixo que, a meu ver, está na raiz dos outros dois, é a participação, o que a gente chama de gestão democrática do território, gestão democrática da cidade, gestão democrática do país. É a ideia de que o processo decisório sobre as políticas tem que incluir os excluídos. Historicamente, as políticas no Brasil são excludentes, porque o processo decisório que as define são historicamente excludentes. Então, toda pauta da participação direta... Porque nós temos milhões de problemas no nosso sistema representativo. O nosso sistema representativo, aquilo que os partidos de esquerda chamam de democracia burguesa, o modelo republicano, ele evidentemente representa e tem suas virtudes, nós avançamos com o voto universal, sem restrições, com eleições livres, partidos livres, liberdade de expressão, tudo isso fortaleceu a nossa democracia. Entretanto, nós temos que entender que a nossa democracia carrega uma cultura política e um modus operandi pesadíssimo, absolutamente conservador. Nosso Estado é muito estruturado em torno dessa lógica. E, portanto, a ideia que a participação direta complementa a democracia, no sentido de abrir espaços de interlocução para aqueles que, historicamente, não tiveram acesso à mesa de decisões de políticas, é um dos eixos. DÉBORA PRADO - O que você fez depois de sair do governo? Eu saí de lá e decidi voltar para a universidade e ficar dois anos entendendo o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Por que a nossa agenda não foi aplicada? Como funciona isso? Voltei para a PUC de Campinas, fiz o concurso na FAU para ser professora na USP e, desde então, tenho trabalhado muito. Meus artigos têm sido
_240/
18 entrevistas _ revista caros amigos
no sentido de eu estudar o modo de organização do Estado brasileiro, a área do desenvolvimento urbano, como funcionam as emendas parlamentares, qual a relação entre o desenvolvimento urbano e a política, quais os setores. Voltei e pensei em ficar na universidade, sentada, estudando, pensando, dando aula e não fazendo nada mais, para refletir, escrever meu livro. Mas, aí, quando chega em 2008, vem uma articulação internacional dos movimentos de moradia dizer para mim: “Olha, o relator para o direito à moradia da ONU, Miloon Kothari, um indiano, acaba o mandato dele, agora, e nós queremos que você seja a nova relatora do direito à moradia na relatoria dos direitos humanos”. O governo brasileiro entrou em campo para viabilizar também o apoio ao meu nome, além das organizações populares, e eu acabei vencendo os outros nomes e fui nomeada como relatora especial para o direito à moradia adequada junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E aí já me meti, de novo, num outro front global, interessantíssimo, internacional, ligado de novo ao ativismo pelo direito à moradia, do ponto de vista dos direitos humanos, que é um novo ponto de vista para mim. Então, eu chego ao ponto em que estou agora. DÉBORA PRADO - O governo Lula promoveu a inclusão via consumo, via mercado. Do ponto de vista da política urbana, esse tipo de inclusão promove também os direitos cidadãos? Eu diria até que graças a nossa história e a nossa trajetória seria possível combinar uma estratégia de inclusão ao mercado com promoção de direitos cidadãos. Isso seria possível. A questão está no campo do poder, da política, e não no campo da viabilidade técnica e até conceitual. Você poderia ter uma política de valorização do salário, do Bolsa Família, e, ao mesmo tempo, promover os direitos. Qual a consequência se você não faz isso na política urbana, no prota-
gonismo cidadão, e abandona a ideia de implementar uma política em torno da função social da cidade e da propriedade? Minha Casa Minha Vida é um programa que reproduz programas muito semelhantes que já haviam sido experimentados no Chile, no México. Agora, como relatora, estudei isso mais amplamente no mundo, e se percebe que, mesmo nos países onde a moradia era uma política social, que fazia parte de um walfare state, durante os últimos 20 anos, começou nos anos 1980 com Thatcher, Reagan e depois se intensificou e se espalhou pelo mundo, inclusive com uma promoção muito intensa, através das agências multilaterais, do FMI e do Banco Mundial, com empréstimos com condicionalidades. É a transformação da ideia da moradia como um direito humano, como uma política social, para a ideia da moradia como mercadoria e, posteriormente, como ativo financeiro. A financeirização da moradia. Isso é internacional. Então, você tem uma versão disso nos países de transição, quando cai o Muro de Berlim, que privatizam todo parque político construído, mas você tem também uma transformação disso na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os países que tinham uma política social. Eu não fazia ideia de que os Estados Unidos tinham uma política social fortíssima de moradia. Então, isso começa a ser desmontado e mercantilizado no sentido do Estado, do poder público se retirar e isso tudo ir via mercado, e, nessa nova versão, via ampliação do acesso ao crédito. Foi uma espécie de tomada dos circuitos financeiros internacionais com a globalização e com a eliminação das barreiras para a circulação livre do capital financeiro. Você tem um excedente de capital global, os petrodólares dos xeques, o dinheiro da China, que precisa encontrar campo de investimento para conseguir se reproduzir. Um dos campos de investimento fundamentais para esse excedente, historicamente importan-
nós temos que entender que a nossa democracia carrega uma cultura política e um modus operandi pesadíssimo, absolutamente conservador. Nosso Estado é muito estruturado em torno dessa lógica. E, portanto, a ideia que a participação direta complementa a democracia, no sentido de abrir espaços de interlocução para aqueles que, historicamente, não tiveram acesso à mesa de decisões de políticas, é um dos eixos. te para os circuitos financeiros, é a produção imobiliária, porque tem uma capacidade incrível de ser ao mesmo tempo um ativo que não vira pó, é concreto, tem capacidade de valorização, não desaparece como uma ação e, além do mais, como ativo fixo, é capaz de, por hipoteca, gerar mais possibilidades de empréstimos e giro de capital. Mas, de qualquer maneira, houve uma espécie de tomada do mercado imobiliário pelo capital financeiro internacional. Isso se enxerga, em nível global, nos processos que aconteceram de renovação urbana, revitalização urbana que abriram espaços para esses investimentos globais chegarem às cidades, com consequências para quem mora nas cidades porque competir com o preço da terra com o seu recurso local com o xeque do Bahain... Isso tem consequências em cidades europeias, norte-americanas, que a gente chama de gentrificação, expulsão etc. E a área da moradia virou uma frente para esse capital.
\241_
#15_ Raquel Rolnik
TATIANA MERLINO - Como essa financeirização aconteceu no Brasil? No Brasil, aconteceram duas coisas. Primeiro, nós começamos um processo que tem a ver com a financeirização geral de abertura de capital em Bolsa de grandes empresas. Sete empresas construtoras no Brasil entraram em Bolsa para captar capital financeiro para aumentar sua escala de produção, num movimento que já havia acontecido antes, inclusive na América Latina. As sete grandes empresas construtoras captam recursos, compram terras, montam projetos para fazer um lançamento de produtos imobiliários nas cidades brasileiras e aí vem a crise financeira. A crise financeira tem a ver com essa história da financeirização da moradia, começa com a crise hipotecária. A culpa da crise financeira foi a transformação da moradia de política social em política mercantil e financeira. Eu fiz o primeiro relatório na ONU sobre isso, porque é o tema internacional. Aí, as sete grandes construtoras abriram o capital, veio a crise e iam falir. Tinham imobilizado capital, estavam com lançamentos prontos, iam dançar, mas vão bater na porta do Ministério da Fazenda e do governo federal. Junto com isso, nas medidas elaboradas no Ministério da Fazenda, pensando em medida anticíclica keynesiana típica: “Não vamos deixar a crise chegar no Brasil. O que fazer para gerar rapidamente emprego? Construção civil.” Então, juntando as duas questões, se lança um programa no qual o governo, com o orçamento do governo, joga um subsídio muito grande para que as pessoas possam comprar os produtos que essas empresas já estavam prontas para lançar. Só que essas empresas tinham umas 250 mil casas e o governo fala “um milhão”. Muito mais do que elas tinham. O governo ampliou isso numa outra escala. Salva as empresas construtoras com o nosso dinheiro, do orçamento, faz um modelo que permite que setores... isso faz parte da estratégia do mercado, eu entendo perfeitamen-
_242/
18 entrevistas _ revista caros amigos
te a linha de raciocínio do sindicalista Lula com o seu ministro da Fazenda, o Guido, e sua equipe: “Vamos ampliar a capacidade de consumo dos trabalhadores e vamos fazer com que esses trabalhadores possam comprar casas, entrar no mercado formal com subsídio público”. As empresas construtoras vão adaptar esse produto para poder chegar a setores que antes não se chegava via financiamento: quatro salários mínimos de renda familiar mensal, cinco salários mínimos que o mercado privado não atingia. Então, lança-se Minha Casa Minha Vida com essa perspectiva. TATIANA MERLINO - Mas, desse um milhão de casas, qual é a porcentagem para as que completam de 0 a 3, de 0 a 4 salários mínimos? O modelo de 0 a 3 salários mínimos é de 400 mil casas, de 3 a 6 salários, mais 400 mil casas, e de 6 a 10 salários mínimos, mais 200 mil casas. DÉBORA PRADO - O estudo é de que as casas para 0 a 3 salários estão lá... É óbvio. O modelo de 0 a 3 salários mínimos não viabilizou. É claro que depende muito. 0 a 3 salários mínimos lá no interior do Maranhão dá para fazer o Minha Casa Minha Vida, porque o preço da terra é baixo, mas nas regiões metropolitanas o de 0 a 3 está difícil. E a demanda na região metropolitana é enorme. Um dia, eu ouvi uma palestra do Mike Davis, muito engraçada. Ele falou de um filme em que o personagem principal era o advogado de defesa e de acusação de um réu num julgamento. Então, esse mesmo personagem fez duas narrativas, de defesa e outra de acusação. Então, eu fiz a narrativa do ponto de vista da história, assim como ela aconteceu dentro de um círculo. Só que tinha outra história acontecendo dentro do Ministério das Cidades. O movimento popular de moradia, desde que implantou o Estatuto da Cidade e podia fazer iniciativa de projeto de lei,
A culpa da crise financeira foi a transformação da moradia de política social em política mercantil e financeira. Eu fiz o primeiro relatório na ONU sobre isso, porque é o tema internacional. Aí, as sete grandes construtoras abriram o capital, veio a crise e iam falir. Tinham imobilizado capital, estavam com lançamentos prontos, iam dançar, mas vão bater na porta do Ministério da Fazenda e do governo federal. Junto com isso, nas medidas elaboradas no Ministério da Fazenda, pensando em medida anticíclica keynesiana típica: “Não vamos deixar a crise chegar no Brasil. O que fazer para gerar rapidamente emprego? Construção civil”.
desde a Constituinte, apresentou um projeto de lei criando a ideia de um sistema de habitação de interesse social, como o SUS da saúde. Um sistema estruturado nos três níveis, governo local, com controle social, com transferência de recurso fundo a fundo, estruturando a área de desenvolvimento urbano, que nunca foi estruturada, a área de desenvolvimento urbano, que nunca é um banco ou migalha distribuída a esmo. Então, esse sistema de habitação, depois de muitos anos, no governo Lula, foi aprovado no Congresso, em 2005, e começou a ser implementado, bem devagarzinho. Dentro desse modelo, tinha um Plano Nacional de Habitação. Os municípios faziam os planos municipais e os estados, os estaduais. Em cada um tinha um fundo, em cada um tinha um conselho, começou a ser implantado isso no Ministério das Cidades. Veio o Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver com o modelo anterior do Ministério das Cidades: desconstitui isso. E fala: “Não, não, a construtora faz e o governo dá o dinheiro para a pessoa comprar o negócio da construtora”. Não tem fundo, não tem sistema, não tem porra nenhuma, não tem controle social! Nada! TATIANA MERLINO - O que existe efetivamente, hoje, de política social para essa população que não tem acesso à moradia pelo mercado, que mora nas encostas? DÉBORA PRADO - Você falou que 70% da população mora em áreas irregulares... Então, essa história dessa construção na área de moradia, hoje, nós temos Minha Casa Minha Vida e o PAC das favelas, recursos para o saneamento e a urbanização de favelas. Tem muito dinheiro e está sendo implementado em muitos lugares do Brasil. O que acontece com o modelo que só pensa no mercado, como Minha Casa Minha Vida, e não pensa no processo de controle do desenvolvimento urbano, o subsídio está
\243_
#15_ Raquel Rolnik
indo, inteiro, para o preço de terra! Nós estamos vivendo um boom de preço da terra. E qual é a consequência disso? Cada vez é mais difícil para quem tem menos renda comprar. O Minha Casa Minha Vida, dos 4 a 6 salários é o que está bombando. Está ocupando os extremos das periferias. E quem é mais pobre que isso? DÉBORA PRADO - Vai para onde? Tem uma política que aumentou muito o crédito, disponibilizou muito crédito, viabiliza os negócios, e a totalidade disso vai para o preço da terra, porque não tem instrumento de manejo de solo urbano para tentar impedir isso. Mais. Falou-se das Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social). Uma das importantes consequências dos Planos Diretores foi que mais de 70% dos planos no Brasil delimitaram as Zeis em áreas ocupadas por favelas para ficarem e serem urbanizadas, e áreas vazias para Zeis na cidade, com o objetivo de baixar o preço ali. Mas, o que está acontecendo? Como você tem um descompasso total entre a política de financiamento de moradia e a política de gestão de solo, que não existe, que foi desconstituída, e sem nenhum controle social, sem nenhuma forma pública de trabalho, está se fazendo casa sem cidade. Então, nós teremos crise muito maior do que se tem na circulação. DÉBORA PRADO - Crise no transporte. Crise na infraestrutura. Crise no transporte. Porque não temos um modelo e não temos uma alternativa de acesso à terra urbanizada para a população mais pobre. A única coisa que se tem é dinheiro para remediar quando já é construída a favela. Sinceramente, eu sempre defendi, e sempre defenderei até os últimos dos meus dias, a urbanização de favelas, mas eu não posso admitir que a gente vai passar o resto da vida deixando o povo morar em favela para depois urbanizar a favela. Porque até a gente sabe que, embora tenha que fazer, nunca fica bom! Vamos falar sério!
_244/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O preço da terra aumenta tanto que não tem gente suficiente para pagar aquele preço, para ocupar aquele lugar. E é uma coisa tão absurda! Tem uma luta histórica do movimento de moradia para reabilitar as áreas centrais com prédios vazios e desocupados.
DÉBORA PRADO - Mas, esse modelo continua fomentando a criação de favelas? Até aqui, em São Paulo, pelo transporte caro e a dificuldade de circulação, as favelas estão nas áreas nobres também. As favelas estão adensando. E as favelas que estão nas áreas nobres estão sendo objeto, agora, de um ataque! Como relatora de direitos humanos, eu recebo direto as denúncias de ameaças de remoção. Eu faço uma geografia das denúncias. Quais são as favelas ameaçadas de remoção? As que estão nas áreas mais valorizadas. Favela lá nos quintos dos infernos, no meio da periferia, sem nada, está tranquila... Até quando? Essa aí só mexem nela quando vai passar o Rodoanel, alguma outra grande infraestrutura, e, de novo sem respeitar os direitos já constituídos. Eu não posso me conformar que nós estamos picando o Estatuto da Cidade e a Constituição, quando, finalmente, a gente tem os recursos para implementar isso! Então, eu acho que o problema é esse da política urbana, hoje, no Brasil. E, por incrível que pareça, eu acho que nenhum país do mundo teria condições de fazer uma política urbana e habitacional como nós, pela trajetória, pelo que já aconteceu, pelo que já experimentou, que já tem de amadurecimento dentro dessa área. Entretanto, acho que a gente tem que entender isso. O que aconteceu no Brasil? A gente
teve a Constituinte de 1988. Os anos 1990 foram anos de disseminação da agenda neoliberal no mundo. Aqui, também. Então, a gente viveu uma trajetória esquizofrênica de implantação de direitos junto com a implantação de uma agenda e de uma pauta neoliberal. E um terceiro elemento que é a nossa cultura política. A qualidade dessa cultura política que é violenta, truculenta, excludente. Isso tudo a gente carrega e é uma tradição daquelas troncudas para carregar. É da combinação perversa dessas três causas que a gente acabou fazendo esse modelo que nos deixa bastante aflitos. Mas que dá para entender por quê. TATIANA MERLINO - O Brasil continua tendo um déficit habitacional de 7 milhões. Quer dizer, mesmo com Minha Casa Minha Vida, essa população continua sem moradia? Olha, vamos fazer um cálculo assim. O déficit habitacional é um déficit que é calculado, já há muitos anos pela Fundação João Pinheiro, que envolve muitas variáveis, coabitação, infraestrutura, qualidade da moradia etc. E para calcular o déficit habitacional, depois das intervenções de 2006, 2007, 2008, 2009, com o censo em 2010... Não foi feito um novo plano cálculo do déficit habitacional pela Fundação João Pinheiro a partir do censo de 2010, porque precisa dos microdados do censo. Não são esses números gerais que foram divulgados. Os microdados só serão obtidos no início de 2012. Então, não é possível dizer, com absoluta segurança, e ver o que melhorou. Existem outros cálculos. Em 2005, a própria João Pinheiro fez uma proxy, usando a Pnad e outras pesquisas, mas não tinha analisado o grande dinheiro chegando, ainda. Então, a gente não consegue enxergar isso. Então, não dá para dizer, hoje, exatamente o déficit. TATIANA MERLINO - Mas, ele é aproximado com o número de imóveis vazios?
Já saiu nos dados do censo de 2010 o número de imóveis vazios. São as casas e os apartamentos que não têm ninguém morando e não é segunda casa, de turismo. Enfim, são domicílios onde não tem ninguém morando. Quando havia um déficit habitacional de 6 milhões, havia 5 milhões de casas e apartamentos vazios. Onde estão? Uma parte está nos municípios que foram abandonados por sua população e que rumaram às grandes cidades. Tem uma grande porcentagem de cidades fantasmas. A cidade inteira que diminuiu. Ainda tem um movimento de migração, não é tão rural-urbana, mas tem a migração intrametropolitana, outros fluxos migratórios, outro município que perde população. Dois tipos de municípios estão perdendo população: esses que são inviáveis do ponto de vista econômico, que perderam a sua atividade econômica, saíram do circuito territorial, não tem como viver e aí as pessoas migram, e, outro tipo, os municípios centrais dentro da região metropolitana perdem população porque o preço da terra aumenta tanto que não tem gente suficiente para pagar aquele preço, para ocupar aquele lugar. E é uma coisa tão absurda! Tem uma luta histórica do movimento de moradia para reabilitar as áreas centrais com prédios vazios e desocupados. E outra coisa que fiquei absolutamente indignada: se lança um programa como Minha Casa Minha Vida com um subsídio enorme, sem ter um componente forte de reabilitação. Poderia fazer reabilitação no Minha Casa Minha Vida, mas é inviável, porque não foi montado para isso. Foi montado para produzir casa nova. O Minha Casa Minha Vida é um lindo programa industrial, fantástico, contracíclico, keynesiano, mas não é uma política habitacional, é um programa industrial. E um programa industrial que vai na perspectiva de distribuição de renda, de ampliação do mercado, de inclusão do trabalhador no mercado. Parabéns, Ministério da Fazenda! Mas alguém tem que fazer política urbana neste país!
\245_
#15_ Raquel Rolnik
CECÍLIA LUEDEMANN - Seguindo aquela sua ideia de que a cidade é mais uma união de acampamentos em suas periferias, não uma cidade propriamente dita, então, agora, no lugar desses acampamentos serão essas casinhas isoladas do Minha Casa Minha Vida? São as casinhas, são os predinhos. Ontem, eu levei os meus alunos, na disciplina de planejamento urbano, fomos de ônibus e observando o caminho até chegar em Suzano. A verticalização da periferia. Que loucura! Você vai caminhando, São Miguel, e, mais além, em Guarulhos. Você vê uma verticalização da periferia no Minha Casa Minha Vida, que está realmente mudando. Estão acontecendo, realmente, mudanças importantes no mercado imobiliário urbano. O Minha Casa Minha Vida está incidindo sobre isso, mas, infelizmente, como isso não vem acompanhado de nenhuma política urbana, nossas cidades estão ficando cada vez mais insustentáveis. Vão piorar as enchentes, piorar a circulação. Porque nada foi feito em relação a mudar o modelo de ocupação do solo urbano para evitar enchente, para evitar o caos no transporte. E nós não temos um modelo de Estado brasileiro na área de desenvolvimento urbano que permita que os municípios produzam urbanização ex ante, quer dizer, que façam cidade e depois venha o povo morar. Não, é sempre primeiro o povo, depois a cidade vai atrás. Por exemplo, recursos: tem para urbanizar a favela e para construir casa. Não é para isso que nós precisamos de recursos. Nós precisamos de recursos para produzir cidade. Isso não tem, não existe (risos)!
Paulo. No município, está quase batendo. E os dois diminuíram: tem menos imóveis vagos e tem menos déficit no município.
BÁRBARA MENGRADO - Dentro das grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, como é essa relação entre déficit habitacional e imóveis vagos? De acordo com o censo de 2010, está batendo o número de imóveis vagos com déficit em São
TATIANA MERLINO - Eu queria que você fizesse uma relação entre exclusão urbana, especulação imobiliária e os megaeventos, especialmente a Copa. Primeiro, deixa eu colocar isso no âmbito internacional. Eu apresentei outro relatório temático
_246/
18 entrevistas _ revista caros amigos
BÁRBARA MENGRADO - E onde estão esses imóveis vagos em São Paulo? Eles estão muito nas áreas do centro consolidado, no anel central, bairros centrais que perderam população. Mas, agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, também, é que os bairros que se verticalizaram em São Paulo, recentemente, como a Lapa, perderam população. Não ganharam. Porque o modelo de verticalização é de grandes apartamentos, grandes áreas, muitos carros, muito cachorro e pouca gente (risos). Então, num bairro operário, como a Lapa, e o mesmo posso dizer em relação à Mooca, que eu mesma vi os estudos, com muitos sobradinhos, um do lado do outro, e famílias grandes, esse bairro, quando se verticaliza, perde população e aumenta a renda. DÉBORA PRADO - E o limite de construção está, cada vez mais, sendo desrespeitado nas operações urbanas, com torres maiores? É o que aconteceu em São Paulo e, internacionalmente, foi uma linha, nessa trajetória de mercantilização da produção imobiliária na cidade, uma agenda de flexibilização do planejamento, a partir da qual não seria possível fazer parcerias público-privadas capazes de transformar áreas da cidade, que são essas áreas de renovação urbana. Então, essa agenda fez parte da própria agenda da financeirização da produção da cidade, da renovação urbana.
sobre megaeventos e direito à moradia, porque recebi muitos estudos e muitas denúncias em todas as cidades em que estavam acontecendo megaeventos. Desde a época que sou relatora, eu peguei Beijing, os jogos olímpicos na China, peguei na África do Sul, com a Copa do Mundo, peguei os Dhoni dwells games em Nova Déli, na Índia, e em Vancouver, as olimpíadas de inverno. E eu fui acompanhando esses processos. Denúncias de remoções em massa, muitas denúncias de violação do direito à moradia, no âmbito da cidade receber um megaevento. Em função disso, resolvi fazer um relatório, estudar, procurei o Comitê Olímpico Internacional (COI), procurei a Fifa para conversar sobre essa questão. Com o COI comecei a estabelecer um diálogo sobre a incorporação da questão do direito à moradia, na fase da seleção dos projetos. A Fifa é uma das organizações internacionais mais corruptas, é puramente negócios, é absolutamente impressionante, é um perigo, um perigo! O COI tem ainda uma certa governabilidade, uma ética. E a partir, então, desse relatório, foi possível perceber, e aí eu vou usar uma expressão que o Carlos Vainer tem usado nos trabalhos dele, que se constitui um verdadeiro “Estado de Exceção” nas cidades que são sede desses megaeventos. E por que isso? Na verdade, o megaevento, dentro dessa estratégia mais geral, global, que os mercados imobiliários são âmbitos de atração de capital, é perfeito para essa estratégia, porque permite vencer essa nova localização, praticamente de graça, pelo simples fato de que ali vai ter os jogos. Aquilo é o marketing ouro, automático, sem investir nele, porque já é uma vitrine, todos vão falar dele. O processo de venda da cidade acontece imediatamente, sem ter que montar estande em feira de negócios. Barcelona foi emblemática dessa mudança, porque os jogos têm se transformado também em processos de transformação urbanística, em formas de fazer processos de urbanização. E com a vantagem de que esses megaeventos criam
Você vê uma verticalização da periferia no Minha Casa Minha Vida, que está realmente mudando. Estão acontecendo, realmente, mudanças importantes no mercado imobiliário urbano. O Minha Casa Minha Vida está incidindo sobre isso, mas, infelizmente, como isso não vem acompanhado de nenhuma política urbana, nossas cidades estão ficando cada vez mais insustentáveis. Vão piorar as enchentes, piorar a circulação. Porque nada foi feito em relação a mudar o modelo de ocupação do solo urbano para evitar enchente, para evitar o caos no transporte.
\247_
#15_ Raquel Rolnik
espírito, tem uma dimensão cultural e afetiva: “É o nosso país!”. É uma coisa nacionalista, o esporte, o espírito da competição entre os povos, trabalhado pelo COI. Então, ao mobilizar sentimentos e patriotismos, é muito difícil criticar ou questionar, porque somos nós. Nós, mostrando ao mundo que somos lindos. Não dá para ser contra. Então, essa combinação perversa para a cidade se preparar para uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, ela poder passar por cima de tudo. Em circunstâncias normais, existem resistências aqui e ali, uma legislação de proteção ambiental, legislação de processo fiscal etc, tudo. Para conseguir fazer alguma coisa no Brasil não é fácil (risos). Existem vários controles legais e sociais em várias esferas. O megaevento permite retirá-los. E já começou a acontecer isso: isenção fiscal, processo de aprovação rápida... Em nome de quê? “A gente não pode fazer feio. Tem que construir logo, tem que estar pronto no dia. Então, tem que passar por cima.” Então, é isso que o Vainer define como um “Estado de Exceção”. DÉBORA PRADO - O Vainer diz que o megaevento é um instrumento para a cidade-empresa e para a cidade-vitrine, uma atração de negócios e de marketing. Exatamente. Então, a estratégia dos megaeventos se transformou e foi totalmente capturada nisso. Eu, evidentemente, porque não sou louca, não sou contra o Brasil ter Copa do Mundo e Olimpíada (risos). Eu acho, porque sou uma otimista teimosa, que a Copa do Mundo e a Olimpíada poderiam ser um espaço de construção de um legado socioambiental para a gente poder fazer diferente, fazer com outra lógica. Entretanto, os sinais que estão aí sendo dados, a partir desse começo, vão no sentido contrário, oposto. Mas eu acho que é absolutamente necessário que os grupos, as entidades, as organizações, os intelectuais, os artistas, que estão percebendo que isso está acontecendo, se articulem, rapidamente,
_248/
18 entrevistas _ revista caros amigos
para constituírem outro legado. E eu posso dar o exemplo de Vancouver. Uma articulação desse tipo em Vancouver produziu mudanças muito significativas para os Jogos de Inverno e um compromisso social fez parte importante disso. Claro que veio a crise financeira, cortaram o legado social, só ficaram os estádios (risos). E acabou não sendo toda a plataforma negociada publicamente implantada. Mas é um exemplo de que é possível e a sociedade civil brasileira tem que acordar. Eu acho que nós estamos em uma espécie de anestesia, de susto. De fato, ganhamos o governo federal, ganhamos políticas com mais distribuição de renda, o avanço que aconteceu no Brasil... Nós temos que acordar para perceber que essas coisas têm limites, têm obstáculos e que, aí falando como uma pessoa que esteve no governo municipal e federal, como gestora: “Se não tiver um movimento social e uma vanguarda crítica, questionadora, organizada e forte, o governo só vai para trás!”. Porque a força, no Brasil, para ir para trás é tão grande que o governo precisa de um movimento social forte para poder negociar uma ida para frente. Porque se não, é impressionante, é para continuar beneficiando quem sempre beneficiou. Não mudou essa lógica. O Estado brasileiro está montado para isso, para você fazer o contrário, com as estruturas que tem. É dificílimo e só com muito movimento social, só com muita luta da sociedade, só com muita denúncia, só com muita crítica que a gente consegue ir para frente. Infelizmente, os partidos de oposição não fazem isso, não são isso. Infelizmente. No mundo partidário, ou é uma situação que então não faz crítica porque é situação, dá sustentação política para o governo. E a oposição é pior do que o governo (risos). “Sou contra o governo porque você está no poder, quero estar eu.” E com uma pauta, que podemos ver nas eleições, quando polarizou com o Serra e a Dilma, que Deus me livre! Eu virei, com todas as críticas que eu tinha ao governo Lula, fui para a rua com camiseta e bandeira.
Eu acho que nós estamos em uma espécie de anestesia, de susto. De fato, ganhamos o governo federal, ganhamos políticas com mais distribuição de renda, o avanço que aconteceu no Brasil... Nós temos que acordar para perceber que essas coisas têm limites, têm obstáculos. Óbvio. Mas o que aconteceu? O PT e os partidos têm que fazer uma reflexão, porque não é possível! E o movimento social, também, porque a cooptação é muito grande, a distribuição de pequenos benefícios também inclui o movimento social neste momento. Eu acho isso um enorme perigo. E, para a gente poder avançar, a gente vai ter que puxar outra agenda e outra pauta. BÁRBARA MENGARDO - Nesse assunto, a gente viu o que aconteceu com o país. As obras foram abandonadas, retiraram um monte de gente para depois não ter utilização popular como era dito. DÉBORA PRADO - É uma privatização de massa de recurso público, uma transferência direta de empresa? É o que está acontecendo. Eu sinto que o governo federal tentou fazer alguns movimentos de controlar, pelo menos, a grande bandalheira (risos). O governo federal, por exemplo, tentou não se envolver com recursos públicos federais na construção de estádios, mas agora o BNDES está entrando... Eu sei muito bem a insistência de colocar o Henrique Meirelles à frente da Autoridade Olímpica contra o interesse da máfia do esporte no Brasil que queria mandar na Autoridade Olímpica. Agora, o problema é: que sensibilidade tem o Henrique Meirelles para o
legado socioambiental? (risos) A gente fica entre o ruim, o péssimo e o horroroso. Porque, de fato, é verdade que a pressão para a bandalheira, estilo máfia, roubo explícito, é tão grande que o esforço do governo federal de conseguir alguma respeitabilidade e não participação nos esquemas de roubo organizado já é um primeiro passo (risos). Entretanto, isso está em nossas mãos. Se não houver um movimento social forte que obrigue o governo a exigir uma pauta de um legado, ele não vai acontecer, porque a força é o pior do pior. OTÁVIO NAGOYA - Você comentou que o governo Lula fez uma certa redistribuição, mas não mexeu com os interesses do capital. É possível garantir o direito à moradia para a população sem ir contra os interesses das grandes empreiteiras e das grandes construtoras? Olha, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não existe a possibilidade de garantir o direito à moradia e o direito à cidade sem que esses interesses sejam contrariados. Entretanto, o que eu acho que estava na agenda da reforma urbana, muito forte nesse momento, era a ideia de um pacto socioterritorial civilizatório, que a gente ainda não teve no Brasil, onde os interesses das classes populares pudessem ser reconhecidos e os ganhos do grande capital pudessem ter menos incidência. Não dizer acabar com eles, acabar com o mercado, com os negócios. De jeito nenhum. Eu posso dar inúmeros exemplos de países europeus onde pactos desse tipo foram realizados. Você olha a Itália dos anos 1960, é um pacto socioterritorial para os batalhadores que garantiu avanços e acesso à terra e à moradia. Mas não acabou com o setor produtivo e empresarial, pelo contrário, mas teve um mínimo de pactuação, tem um limite. A aposta nossa do Conselho das Cidades, da ideia de constituição de uma esfera pública, era a ideia de um espaço de pactuação, onde esses interesses pudessem se manifestar.
\249_
_250/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#16_ Samuel Pinheiro Guimarães _
Junho de 2001
Punido por defender o país O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é avesso à tese que aponta o fim de um ciclo de governos de esquerda na América do Sul. Para ele, ainda é cedo para prever o desfecho da crise na região. Não vislumbra, no entanto, boas perspectivas para o Brasil e vê no impeachment um golpe não só contra a ex-presidente Dilma Rousseff, mas o sepultamento de um projeto de país. A cassação do mandato de Dilma, para Samuel, representa a anulação de 53 milhões de votos de brasileiros que a elegeram legitimamente. E trata-se de um golpe, arquitetado por grupos políticos, econômicos e pela mídia que afeta as camadas mais pobres da sociedade, amparadas por um projeto econômico e social que estava em curso para combater a desigualdade. Um processo, defende, alimentado por “uma enorme e múltipla ofensiva” de setores que envolveu uma estratégia de desestabilização política e desmoralização do governo e do PT pela Operação Lava Jato, com vazamentos de documentos e informações sigilosas para atingir alvos específicos, denúncias sem provas e a condenação pública e antecipada dos investigados. Para ele, o momento no País é de retrocesso. Critica os planos neoliberais do presidente Michel Temer (PMDB) e a ameaça que representam à manutenção de programas sociais. Teme a nova onda de privatizações anunciada ainda quando o peemedebista assumiu a presidência interinamente.
Samuel Pinheiro Guimarães Neto nasceu no Rio em 30 de outubro de 1939. No início dos anos 60, entrou para o Itamaraty. Em 1965, foi exonerado da Sudene. Discordâncias marcaram suas relações e o afastamento nos governos Figueiredo, Collor e FHC. Foi secretário das Relações Exteriores e ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos no governo Lula, e AltoRepresentante Geral do Mercosul. Professor do Instituto Rio Branco, é autor dos livros Quinhentos Anos de Periferia e Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. ENTREVISTADORES Marina Amaral João de Barros José Arbex Jr. Wagner Nabuco Sérgio de Souza
Suas críticas neste momento histórico têm sido duras e sistemáticas, marcando mais uma vez a postura de independência de quem não titubeou em se afastar em diversos momentos de governos e abrir mãos de cargos para manter intactos seus princípios.
\251_
#16_ Samuel Pinheiro
SÉRGIO DE SOUZA - Embaixador, à guisa de introito, como, onde e por que o senhor foi parar no Itamaraty? Eu era estudante de direito e, como gostava muito de política, fazia política estudantil, e como gostava muito de política internacional – achava que a política internacional era muito importante para compreender a política interna brasileira –, me interessei em fazer o concurso. JOSÉ ARBEX JR. - Isso em que época? Foi em 1961, mais ou menos, no Rio de Janeiro. João de Barros - O senhor vem de uma família de classe média? A minha é uma família em que há muitos médicos, depois descobri que havia alguns diplomatas, que meu trisavô tinha sido diplomata, ainda no Império, em 1830 e pouco. Quando me interessei pela carreira, era a época de Jânio Quadros, havia um fascínio novo pela política externa, a independência dos países africanos, o relacionamento com Cuba, Che Guevara, a política do Terceiro Mundo e assim por diante. Havia um interesse muito grande no que Jânio Quadros chamava de política externa independente. Isso fascinava quem tinha, como eu, uns 20 anos de idade. JOSÉ ARBEX JR. - O senhor falou que militava no movimento estudantil. Em que corrente? Movimento de reforma. Era um exagero, mas a gente chamava de Partido Político Estudantil. JOSÉ ARBEX JR. - No espectro ideológico, era o quê? Havia pessoas do partido comunista, trotskistas, socialistas, nacionalistas, progressistas e assim por diante. E havia outro partido que era a ALA, associação... não lembro o significado da sigla, mas era muito parecido com Arena e reunia os estudantes mais conservadores. A Pe-
_252/
18 entrevistas _ revista caros amigos
trobras havia sido criada em 1954, quatro anos antes de eu entrar na faculdade. Ainda havia um rescaldo do movimento pela sua criação, um entusiasmo pela construção de Brasília, um entusiasmo com a perspectiva nova para o Brasil, de industrialização, de afirmação. E a época de Juscelino (Kubitschek) se caracteriza talvez por um espírito de conciliação, uma ideia de desenvolvimento, de progresso, de integração nacional e que tinha uma força extraordinária junto ao imaginário dos jovens da época. Marina Amaral - E como o diplomata se adapta às diversas linhas de condução política do país, porque fiquei imaginando o senhor que entrou nesse período de política externa independente... Certo, terminei o Rio Branco em 1963. MARINA AMARAL - Um clima completamente diferente... De 1964. (risos) MARINA AMARAL - Como é essa relação entre o diplomata e a linha do governo? Há uma variação muito grande, em especial entre os diplomatas jovens que não exercem cargos de direção. Na época de 1964, um grande número tinha simpatia pela política externa de Jânio e de Jango. Havia um sentimento bem presente entre os jovens diplomatas, um movimento crescente por democracia, pelo fim do autoritarismo, embora houvesse também pessoas conservadoras, como em todo agrupamento humano. Em um grupo qualquer de indivíduos, de qualquer profissão, há uma gama política: pessoas à esquerda; um predomínio do centro, de pessoas que ficam ali flutuando, de pessoas conservadores, isso é natural. WAGNER NABUCO - O senhor diria que, do ponto de vista da política externa brasileira,
A sensação que tenho, porém, é de que em 1929 ocorre uma ruptura muito grande na sociedade brasileira, provocada por um fator externo que é a Grande Depressão, que vai permitir – e mesmo exigir – uma transformação não só da economia, como da sociedade. desde a independência, em 1822, o governo Getúlio ou a influência do Getúlio de 1930 a 1950 são um espaço diferenciado, em que se afirmaram um projeto nacional e uma política externa que representassem esse projeto nacional? Não sou historiador da política externa. A sensação que tenho, porém, é de que em 1929 ocorre uma ruptura muito grande na sociedade brasileira, provocada por um fator externo que é a Grande Depressão, que vai permitir – e mesmo exigir – uma transformação não só da economia, como da sociedade. Assim como a vitória da Revolução de 1930 é um desenvolvimento das revoltas tenentistas, tanto que Getúlio é cercado de tenentes, é um processo de transformação social do Brasil, econômica e política também. E aquele período de grandes dificuldades econômicas, ao mesmo tempo, permitiu a consolidação de um proletariado industrial nos principais centros urbanos. A própria dificuldade de importações levou a um esforço para sua substituição, impulsionando a constituição desse proletariado, que serve também de base para um novo processo político. Do ponto de vista externo, ocorre um movimento interessante de afirmação de política externa, mas não é o primeiro, porque já havia ocorrido outro, fundamental, no Império. Uma grande vitória do período imperial é a não renovação dos tratados preferenciais com a Inglaterra. Aquilo foi uma luta his-
tórica, e a distância do poder entre a Inglaterra e o Brasil naquela época talvez fosse maior do que a distância entre o Brasil e os Estados Unidos hoje. A época de Getúlio é também um momento de uma preocupação muito grande com a construção da economia. Percebe-se que é necessário industrializar o país, que essa necessidade está ligada à construção da infraestrutura nas áreas da siderurgia, da energia elétrica, da indústria. E é uma época de diversificação até de relações econômicas em direção à Alemanha, por exemplo, que depois permitiria, com a guerra, que o Brasil conseguisse muito habilmente extrair financiamentos para a construção de Volta Redonda, um fato político extraordinário para a época. E há algo muito importante que hoje é pouco lembrado: os americanos queriam ficar permanentemente na base aérea de Natal, e o governo brasileiro recusou essa autorização. Senão teríamos hoje o que os cubanos têm na sua ilha, uma situação complicada e que os europeus também têm a “felicidade” de ter, que são as bases americanas em seu continente e que eles, progressivamente, gradualmente, vão “empurrando” para fora. Todo o esforço europeu é esse: terminar a ocupação militar americana que se iniciou na Segunda Guerra. JOSÉ ARBEX JR. - Mas o Plano Colômbia agora vai instalar as bases americanas... O Plano Colômbia faz parte de uma estratégia americana muito mais ampla. Em relação às Américas, essa estratégia tem aspectos econômicos, militares, ideológicos, políticos, tecnológicos – e o Plano Colômbia, entre outras coisas, visa instalar bases permanentes na América do Sul. No Equador, já existe a base de Manta, um contrato leonino com o governo equatoriano que, aparentemente, não ganha grande coisa com isso. Parece haver bases no Peru, não tenho certeza, mas acho que com a presença de militares americanos.
\253_
#16_ Samuel Pinheiro
JOSÉ ARBEX JR. - Queria a opinião do senhor sobre uma hipótese que tenho de que o Plano Colômbia e a Alca são dois braços de uma pinça, no sentido de reforçar ou atualizar a Doutrina Monroe no hemisfério. Os Estados Unidos têm uma estratégia mundial, não apenas regional, e não há antagonismo entre a sua estratégia mundial e a sua estratégia regional. Os Estados Unidos são o único país mundial de fato, têm interesse em todos os países do mundo e ainda no fundo do mar, no espaço sideral. E têm uma forma de ver o mundo muito curiosa: consideram-se a nação mais bem-sucedida do planeta e dizem isso com tranquilidade, em qualquer documento oficial está afirmado. Não só por se considerarem a nação mais democrática, a democracia mais antiga, sem interrupções, mas também porque sabem que são o país mais forte do mundo e se consideram a sociedade mais justa. Isso é importantíssimo, porque não é só uma coisa que eles contam para os outros, eles têm a convicção da superioridade e essa convicção vai desde a elite até o último assimilado pela sociedade. Ninguém lá acha que é caipira ou que dirige carroça. O sujeito não acha o automóvel japonês melhor, pode até comprar, mas não acha. Os norte-americanos, ao final da Segunda Guerra, enfrentaram uma questão paradoxal. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, haviam morrido 50 milhões de pessoas, outros 50 milhões ficaram aleijados, outros tantos ficaram deslocados, crianças sem pai, sem mãe, sem rumo. E os Estados Unidos estavam perplexos do ponto de vista político. Não entendiam como em um país tão adiantado como a Alemanha – uma civilização tão sofisticada que havia dado uma contribuição enorme à filosofia, ao pensamento político, à música, um país com uma estrutura industrial fantástica, avançando tecnológica e cientificamente – havia surgido o nazismo. E como é que
_254/
18 entrevistas _ revista caros amigos
esse monstro quase destrói o mundo? E como é que quase ganha a guerra? Quase ganhou e, se tivesse ganho, hoje em dia, em vez de você ter um fast food delivery, teria lá uma frase em alemão. Não sei o que teria acontecido, mas quase ganhou, então a questão era como afastar a ameaça para sempre. Os EUA eram um país hegemônico em todos os sentidos. A Europa estava devastada, ocupada militarmente pelos Estados Unidos, pela Alemanha, Itália, França. Os soviéticos ocupavam o Leste Europeu. Como fazer para evitar novas ameaças e preservar o sistema capitalista e a democracia liberal? Criaram então o sistema das Nações Unidas, com base na experiência da Liga das Nações. Chamaram os soviéticos e disseram: “Vamos montar aqui uma organização internacional que vai ter o monopólio da força, o monopólio da violência. Vocês vão ter direito a sentar no Conselho de Segurança como um dos membros permanentes” – que estão fora do alcance das Nações Unidas, porque os membros permanentes do Conselho de Segurança sempre podem vetar a própria discussão do que não lhes interessa. Por que a questão da Irlanda nunca foi discutida no Conselho de Segurança? Porque a Inglaterra vetaria. Por que a questão da Argélia nunca foi discutida? A questão da Chechênia? Do Tibete? Porque seriam vetadas. Os soviéticos até que acharam muito interessante a ideia: “Nós não temos armas nucleares, eles estão nos chamando, ficamos protegidos por um sistema jurídico enquanto desenvolvemos armas semelhantes”. Então, os Estados Unidos com a União Soviética, a França, a Inglaterra e a China organizaram esse novo sistema de segurança coletiva. Mas vieram as circunstâncias da Guerra Fria e eles ganham, em 1989, a outra grande batalha do século 20. Foram duas vitórias contra os alemães e uma contra os russos. Consolidaram a sua hegemonia, mas acontece que outros povos emergem:
a União Europeia, um superestado do futuro, a China, a Rússia, que está aí querendo ressurgir, o Japão. A China cresce 10 por cento ao ano, a previsão é que em 2015 o PIB da China seja maior do que o dos Estados Unidos. O maior déficit comercial dos Estados Unidos é com a China, não é mais com o Japão. E como os Estados Unidos agem na emergência desse mundo multipolar? “Vamos organizar melhor a nossa área, consolidar a nossa área (as Américas). E como fazer? Primeiro e, acima de tudo, com grande sabedoria, vamos desarmá-los.” E aí há todo um processo de convencimento de que os povos da região não poderiam ter armas de destruição em massa. E que é uma ideia muito simpática: quem pode ser a favor das armas nucleares? Associaram isso aos regimes militares e criaram um mito de que havia uma corrida nuclear Brasil-Argentina, porque havia tensão da Argentina com o Chile, alguma tensão com o Brasil na época de Itaipu, mas corrida nuclear pode existir entre a Índia e o Paquistão, entre o Brasil e a Argentina não haveria como. Criaram o mito para pressionar os países a assinar tratados em que se comprometessem a não ter armas de destruição em massa. Se há algo que aterroriza a sociedade americana é outro país possuir uma bomba nuclear, uma só que seja. Nem é o perigo de ter tantas quanto eles, porque ninguém tem, nem os russos, nem os chineses, que têm mil ogivas, enquanto os Estados Unidos devem ter umas cinco mil. Mas o fato de ter uma só já desequilibra, atemoriza, gera respeito. A segunda providência é desarmar convencionalmente, daí a criação da teoria de que a América do Sul é um continente de paz. Vocês devem ter ouvido isso: “Para que armas?” “Para que exército?” “Isso é démodé, não existem mais fronteiras, vocês são todos amigos, vamos parar com essa besteira, diminuam suas forças armadas...”. Essa é a teoria da segurança cooperativa que leva ao
Os Estados Unidos são o único país mundial de fato, têm interesse em todos os países do mundo e ainda no fundo do mar, no espaço sideral. E têm uma forma de ver o mundo muito curiosa: consideram-se a nação mais bem-sucedida do planeta e dizem isso com tranquilidade, em qualquer documento oficial está afirmado. desarmamento. O terceiro aspecto da estratégia militar é estacionar tropas e equipamentos. Ao lado dessa estratégia militar, há a estratégia política, que nesse mundo multipolar tem como objetivo alinhar os países com as posições americanas. Um exemplo recente: o pedido do presidente Bush ao presidente Fernando Henrique para que apoiasse a posição americana na questão do avião americano na China. Isso significa entrar em uma questão que não é nossa para apoiar a política americana. Foi assim também no caso do Peru, para apoiar a política americana, que de repente fez uma “descoberta” extraordinária: Fujimori era um ditador! Descobriram isso depois de dez anos, quando deixou de interessar a permanência dele no poder. Três mandatos eram demais, era preciso renovar a maquiagem, identificar e eleger outro dirigente “simpático”. Alinhar os países latino-americanos com a política econômica externa americana, como no caso de combater a política agrícola da União Europeia. E é preciso também alinhar os latino-americanos nas ações americanas contra os países chamados de renegados, os que desafiam o poder americano: Líbia, Cuba, Iraque...
\255_
#16_ Samuel Pinheiro
WAGNER NABUCO - Agora a Venezuela. A Venezuela é candidata, mas ainda não conseguiram classificá-la como país renegado, há um processo de preparação psicológica em curso. Encontro no Brasil pessoas bem-informadas que dizem que o presidente Chávez é um golpista, embora ele já tenha vencido quatro eleições, com a presença de observadores internacionais. E a segunda eleição dele para presidente não é reeleição, é eleição. Ele abriu mão do mandato porque havia uma nova constituição e ele queria ter um mandato legítimo. Imagine isso em outros países. Imagine um país latino-americano em que o candidato vencedor tivesse obtido menos 500 mil votos que o outro. Seria um escândalo, não é? No entanto, isso ocorreu, mas não na América Latina. O presidente Bush teve menos 500 mil votos do que o candidato democrata. “Mas, como? Manobraram a Suprema Corte? Manobraram os votos em tal região?” E o golpista é o presidente Chávez... Essa mesma política aparece na área econômica, com a ideia de consolidar a abertura dos mercados e assegurar que não surja nenhum outro competidor econômico à altura dos Estados Unidos. A questão da Alca é conosco mesmo. A Alca não é uma iniciativa para o México. O México já está incorporado. Nem para os países do Caribe – de dimensões reduzidas e muitos já integrados à economia americana. Nem para os outros países da própria América do Sul, que já têm relações muito estreitas com a economia americana, não têm parque industrial diversificado nem dimensões de mercado significativas, nem o potencial que o Brasil tem. A Alca é conosco mesmo. Quer dizer, a questão da Alca não é o Peru, o Equador. “Os 34 países se reuniram...”, dizem. Ninguém se reuniu, foram os Estados Unidos que convocaram a reunião e apresentaram o seu projeto para as Américas, e os países, diante do brilho ofuscante da potência hegemônica, se deslum-
_256/
18 entrevistas _ revista caros amigos
braram e ingressaram no processo. A Alca faz parte de uma estratégia política, militar e econômica regional. Não é o abandono da estratégia global, é apenas uma operação paralela, digamos assim. Continuam as operações contra a China, as relações com a Europa, com a África, com a Ásia, porque eles jogam em todos os tabuleiros. Às 10 da manhã estão resolvendo o problema do avião na China, às 11 já estão com o problema da África, às 12 com Israel decidindo o que fazer, o que não fazer. JOÃO DE BARROS - E a política externa brasileira como fica diante desse quadro de dominação econômica e política? A impressão que tenho é a de um estado de grande perplexidade e de dificuldade operacional. Porque, para atuar, é necessário um conjunto de hipóteses sobre o que é o mundo, qual é a evolução do mundo, o que é a sociedade brasileira, qual é a evolução da sociedade brasileira. E o que está acontecendo com esse conjunto de hipóteses no caso da política externa brasileira? Está desmoronando. Quais eram essas hipóteses? A América do Sul é um continente pacífico, temos relações de grande amizade com nossos vizinhos, nas fronteiras não há nenhuma ameaça externa, logo, podemos nos desarmar. Em termos mundiais, com a derrota da União Soviética e sua entrada no sistema capitalista, as grandes potências vão se desarmar e haverá o que se chamava nos anos 80 de “dividendos da paz”, um processo de reconversão das estruturas militares para financiar programas de desenvolvimento. Então, não há nenhum problema, podemos reduzir nosso orçamento militar, investir mais em outras áreas. Os grandes países do Ocidente são países benevolentes, países de uma magnanimidade extraordinária e que jamais desobedecerão as regras do direito internacional, jamais infringirão a Carta das Nações Unidas ou pressiona-
As pessoas incorporam a inferioridade. Quem são os superiores? Os deuses que habitam o Olimpo eurocêntrico. E nós aqui, uma população mestiça, triste, ineficiente, atrofiada, pacata... Privatizamos tudo e tratamos os estrangeiros como os astecas trataram os espanhóis, como deuses! rão qualquer país e nós, países que obedecemos às normas do direito internacional, estamos a salvo. Então, agora que está tudo em paz, vamos resolver a questão do meio ambiente. É o que dizem aqui essas convenções, os grandes países poluidores vão assiná-las e vão nos ajudar a resolver os desafios do meio ambiente. E temos aqui no Mercosul um esquema extraordinário, porque aqui vamos construir um bloco poderoso – na época, havia essas declarações, comparações mirabolantes do Mercosul com a União Europeia. E o comércio começou a crescer muito, foram derrubadas as barreiras e foram feitas projeções lineares: está crescendo a dez por cento, então vai indo, vai indo, bate no teto, se torna um gigante. E isso vai nos permitir uma participação mais forte no cenário político internacional Na tecnologia, se adotarmos uma lei de propriedade intelectual “moderna”, vamos impulsionar o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Os inventores farão grandes descobertas, haverá modernização. Essas eram as hipóteses, a visão que estava por trás de nossa política externa. E como se via o Brasil nesse contexto? O Brasil é um país atrasado, um país autárquico, dominado pelo Estado que não libera as forças produtivas, que persegue os estrangeiros, que discrimina os capitais es-
trangeiros e impede que o país participe do processo de globalização. Então, devíamos fazer o quê? Vamos abrir nossa economia, desregulamentá-la, acolher os capitais, sem pedir nada em troca. Depois, eles nos darão. Ouvimos isso de vários ministros, mais tarde perplexos porque não estávamos recebendo nada em troca. E o que aconteceu? Abre-se bem a economia brasileira, desregulamenta-se, controla-se a inflação, adota-se a âncora cambial, reduzimos o Estado, privatizamos e esperamos os capitais estrangeiros que iriam desenvolver o país por nós, modernizar, exportar. Vamos transformar o país em quê? Em uma plataforma de exportação! Vamos diminuir o Estado porque a própria sociedade, através das meritórias ONGs, vai resolver os problemas sociais. Todas essas versões foram contrariadas pela realidade. E qual era a grande diretriz da política externa? “O Brasil precisa se tornar um país normal.” Um país normal. Como se antes fosse anormal. Quer dizer, a questão tem uma parte psicológica interessante. As pessoas incorporam a inferioridade. Quem são os superiores? Os deuses que habitam o Olimpo eurocêntrico. E nós aqui, uma população mestiça, triste, ineficiente, atrofiada, pacata... Mas tudo isso vai se transformar quando controlarmos a inflação. Privatizamos tudo e tratamos os estrangeiros como os astecas trataram os espanhóis, como deuses! É uma visão do Brasil como se o país tivesse contrariado as regras do convívio internacional. Ser um país normal é de, certa forma, ter comportamento de país desenvolvido. O PSDB publicou um documento muito interessante, chamado Mãos à Obra, o programa de governo de 1994. Há nele uma primeira frase assustadora: “O Brasil não é mais um país subdesenvolvido, o Brasil é um país injusto”. A leitura dessa frase é dramática, porque ela desconhece a realidade do subdesenvolvimento e confronta subdesenvolvi-
\257_
#16_ Samuel Pinheiro
mento com injustiça, quando a injustiça faz parte do subdesenvolvimento. Quais as consequências dessa visão na área econômica? Adotar políticas de país desenvolvido, como a França, a Alemanha. Se o país desenvolvido tem um banco central independente – o que não é verdade na França, por exemplo, mas faz parte da mitologia do que seria um país –, temos de querer isso também. Se os países desenvolvidos não interferem na economia – o que também não é verdade, o governo dos Estados Unidos tem uma interferência extraordinária na economia –, vamos fazer o mesmo. Tivemos a possibilidade de desestatizar estatizando. Por exemplo, transferimos algumas de nossas estatais para empresas estatais estrangeiras. E há um sério problema de alinhamento da política externa que decorre dessa visão. Por exemplo: todos os países “normais” assinam o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil não poderia ficar na contramão, na má companhia de países “suspeitos” como Israel, Índia, Paquistão, nenhum deles países realmente brancos... O Brasil iria ficar nessa má companhia? Não, tínhamos que nos juntar às boas companhias. Nossos mentores nos diziam: “Assinem aqui, é bom para vocês”. “Mas nós não vamos obter nada em troca?” “É bom para vocês, vocês devem fazer isso não em um espírito de negociação, de obter algo em troca, devem assinar voluntariamente.” É a chamada adesão unilateral. A perplexidade de hoje é porque a Índia não assinou, explodiu suas armas atômicas, recebeu a visita do presidente Clinton, que a tratou com muito respeito, se tornou uma potência nuclear. “Desassinar” é complicado, os compromissos jurídicos vão progressivamente restringir a liberdade de ação dos países periféricos, estão amarrando tudo, não é verdade? No fundo, a estratégia, vista por outro ângulo, é de ficar a imagem de um mundo “feliz”, que ainda está antes de 1914, na
_258/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O processo que vemos hoje em dia é um processo de recolonização da periferia, de forma indireta. Quais são as características da colônia? Não pode ter armas, não pode ter política externa, não pode ter políticas econômicas internas, não deve ter moeda – isso que se advoga, às vezes, a dolarização, é uma coisa de colônia. Belle Époque. Um mundo “feliz” comandado pelos países centrais, Europa, os Estados Unidos, e tem até os japoneses, que são meio amarelos, mas tudo bem. E havia toda a periferia dominada, colonial, tranquila aos desígnios do centro. O processo que vemos hoje em dia é um processo de recolonização da periferia, de forma indireta. Quais são as características da colônia? Não pode ter armas, não pode ter política externa, não pode ter políticas econômicas internas, não deve ter moeda – isso que se advoga, às vezes, a dolarização, é uma coisa de colônia. Mas agora, na periferia, há nações como a Índia, a China, a visão mitológica não funciona mais, é necessário segurar, controlar. Então se abandonou o sonho do desenvolvimento e decidiram segurar pela força. Não há mais a ideia do desenvolvimento, de trazer os países pobres até o nível dos ricos. Aqueles que conseguiram, conseguiram. Quem não conseguiu... É essa a perplexidade, porque o Mercosul, que era para ser o “grande bloco”, está numa situação difícil, não se tornou um grande bloco. Os países que se diziam não arbitrários rasgam a carta da ONU quando querem – os Estados Unidos bombardeiam o Iraque toda semana. Escreveu, não leu, bombardeiam o Iraque. Israel, com todo o apoio americano, não cumpre as resoluções da ONU, e
os conflitos se multiplicam com enorme violência. Esse negócio de lei, de direito internacional, “Ah! Se nós fizermos todo o dever de casa...”. E os países armados continuam se armando, estão cada vez mais poderosos. Os capitais estrangeiros que iam resolver todos os nossos problemas, evidentemente, não aumentaram nossas exportações, modernizaram desempregando. Só o consumo foi modernizado. Criaram uma crise na balança de pagamentos que pode explodir a qualquer momento. O nível de recursos externos é tão elevado que, de repente... “Ah, tem o Fundo Monetário” – mas aí o país já quebrou! E, de repente, o continente de paz tem o Plano Colômbia, tem tropa americana, tem uma coisa totalmente diferente. As organizações internacionais, imagine! Basta lembrar o caso da Embraer, da vaca louca, os subsídios agrícolas... Os Estados Unidos acabaram de aprovar uma lei agrícola que vale até 2011! É a Alca que vai abrir todos os mercados? Os subsídios agrícolas americanos não estão na mesa de negociações, a lei antidumping americana não está na mesa... O que está na mesa é o que interessa aos Estados Unidos, o que temos para dar, não o que eles têm para nos dar. JOSÉ ARBEX JR. - Embaixador, me deixe fazer uma provocação: qual seria a alternativa de um governo que não quisesse fazer o jogo da recolonização? Não há nenhuma dificuldade, é só fazer o contrário do que está sendo feito. Por exemplo, o BNDES dá empréstimos para grandes empresas, megamultinacionais. Aqueles recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Um fundo da camisa suada do trabalhador brasileiro não é para emprestar a empresas estrangeiras. Se queremos uma política de emprego, como devemos usar o dinheiro do BNDES? Vamos dar um exemplo esquecido: o BNDES deu empréstimo para a Ford. Sabe-se que a indús-
tria automobilística, hoje em dia, emprega muito pouco, e temos estudos que mostram que tipo de indústria emprega mais mão de obra. Então, vamos fazer os bancos públicos financiarem indústrias que empregam mais mão de obra. Temos um problema de exportação, vamos fazer programas ágeis de financiamento, porque os atuais são tão complexos que as empresas não conseguem ter acesso às linhas de crédito. Já tivemos o terceiro superávit do mundo, quer dizer, é possível, mas isso foi a ação do Estado, não foi porque as empresas estrangeiras resolveram exportar mais. Claro que jamais deveria ter sido permitida a entrada de capital estrangeiro em setores que não exportam, porque esse capital vai remeter lucros sem gerar receitas. A empresa estrangeira que quer investir no Brasil tem de ter o compromisso de exportar, porque senão agrava a vulnerabilidade externa. Por exemplo, o Chile tem um programa de capitais especulativos – para dar exemplo de um país que, digamos, não é propriamente um exemplo de socialismo – em que a taxação vai caindo conforme se prolonga o tempo de permanência do capital. Não há nenhum mistério nessas coisas. É preciso disciplinar os capitais estrangeiros: não poderiam promover guerra fiscal, deveria ser proibida a concorrência entre os Estados para atrair capitais estrangeiros, porque, assim, eles obtêm enormes benefícios aqui, gigantescos benefícios acolá. Na área de tecnologia, é preciso primeiro controlar os contratos que não são verdadeiros em relação à transferência de tecnologia, que são uma fonte extraordinária de evasão de divisas. Todo problema de orçamento, equilíbrio orçamentário, teria sido resolvido na luta contra a sonegação fiscal, mas foi feito o contrário: primeiro aumentaram os impostos e agora, quando não há mais como aumentar os impostos, descobriram que existe sonegação, que há um outro PIB que circula sem pagar imposto!
\259_
#16_ Samuel Pinheiro
JOSÉ ARBEX JR. - O senhor acha que é unicamente um problema de vontade do governo? É de concepção de mundo. Você tem de ser como o mundo é de fato: violento, arbitrário, concentrador de renda, de riquezas. A visão do mundo deve corresponder à realidade e não ser um sonho. Basta ver como se passam as coisas na área do meio ambiente: os Estados Unidos, principal poluidor mundial, não assinaram o Protocolo de Quioto. Não seria o caso de, na discussão da Alca, por exemplo, (dizer) “temos de defender o meio ambiente continental, não pode haver negociação enquanto não assinarem o Protocolo de Quioto”? A poluição não é um grande problema para a humanidade? Qual o problema de não negociar? É preciso chegar e dizer: “As nossas condições para participar são, no mínimo, essas e, se não forem atendidas, não há negociação”. As alternativas existem. O problema é o seguinte: quem tem de ter programa é o governo, quem tem de resolver os problemas é o governo, não é a oposição, coisa que eu não sou, mas, enfim. JOSÉ ARBEX JR. - O senhor não é da oposição? Oficialmente, não. Não sou filiado a nenhum partido político. Quando se diz “a oposição não tem programa”, a oposição não tem de ter programa, tem de ter crítica, programa quem tem de ter é o governo. Até porque não se sabe nem os dados precisos, não se tem nem as informações verdadeiramente corretas sobre as finanças púbicas, duvido que se tenha, não há como fazer programa. E não há por que ficar fazendo programas que não serão implementados. Mas há alternativas em todos os setores. Por exemplo, tecnologia. Fazemos um esforço enorme para exportar mão de obra altamente qualificada. Outro dia, no Correio Braziliense, havia uma notícia: “Aluno do 2º ano da Universidade Federal de Pernambuco será contratado pela Microsoft quando terminar o curso”. Grande alegria nacional, grande alegria!
_260/
18 entrevistas _ revista caros amigos
JOSÉ ARBEX JR. - “Estão exportando cérebros...” Isso é uma coisa extraordinária. A sociedade gastou para formar aquela pessoa e, quando ela iria entrar na idade produtiva, vai produzir para uma outra economia, Estados Unidos, França, não interessa. Privilegiar a concessão de bolsas de estudo no exterior é um equívoco. Seria, como foi no passado, mais eficiente trazer professores estrangeiros para o Brasil. O Centro Tecnológico da Aeronáutica foi feito com professores americanos, com oficiais americanos e, muitos anos depois, surgiu a Embraer, hoje orgulho da nação. A Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto foi criada por uma equipe de professores estrangeiros; a famosa Escola de Sociologia e Política, a Universidade de São Paulo, e assim por diante. É necessária uma política de atrair professores porque, com um professor, se formam centenas de pessoas e, quando se manda o jovem para o exterior, se ele for muito bom mesmo, fica lá fora porque recebe ofertas extraordinárias, e, se ele for um aluno excepcional, aí é a alegria, alegria nacional: “Fulano ficou. Venceu no mundo eurocêntrico... Quem sabe um dia não poderei...”. Não é verdade? A atual política de educação é fundamentalmente equivocada em concentrar recursos no ensino primário. O fundamental é a formação de professores. Não existe ensino sem isso. E aqui estamos nós nesse mundo de fantasia: colocam-se pessoas dentro de uma sala com professores leigos, que não estão preparados, ganhando metade de um salário mínimo, e diz que isso é escola. WAGNER NABUCO - Mas é moderno, porque agora vai instalar não sei quantos computadores... Tantos computadores para pessoas que não sabem nem usar o quadro-negro. É extraordinário. É um bom negócio, é uma bela operação comercial, certamente, para a empresa que vendeu os computadores, em especial se for prevista em
contrato a manutenção desses computadores, a elaboração de programas, melhor ainda. O pior é que há uma visão de que a educação vai resolver todos os problemas brasileiros. Se há um problema, eduquem as pessoas. Se pelo menos fosse educar de fato, mas não é, é uma fabricação de diplomas. Como a política de não reprovar as crianças, um equívoco porque é como estar dizendo ao jovem: “Você não sabe, mas vai passar para a etapa seguinte”. O indivíduo vai chegar ao final e não terá o teste da realidade. Imagine uma competição em que, no salto em altura, se coloca uma placa de 30 centímetros do solo e escreve: “2 metros”. O sujeito vem correndo e pula. Pensa: “Pulo dois metros”. Mas não é verdade! É um equívoco, porque se modificam os processos de mensuração e se atribui àquilo um valor que não tem. Sempre no mundo da fantasia. Reduzem-se as verbas de assistência à saúde: o mosquito não quer saber, ele volta, então as doenças voltam. Política de saúde é saneamento básico, não a construção de hospital de luxo. Porque você está escolhendo: ou constrói sistemas de saúde sofisticados de atendimento a um número pequeno de pessoas ou evita que continuem morrendo milhares de crianças de diarreia. Em cada um dos setores, é necessário buscar o que beneficia a maioria, o que não é jogo de cena, exercício de hipnotismo. Ficam hipnotizando a população, tentando convencê-la de que, se for educada, estará resolvido: se não conseguir, é porque não estudou o suficiente. Aí, pronto, a culpa foi transferida e não se fala em distribuição de renda, em distribuição de riquezas. A culpa foi transferida para a vítima: “Você está mal porque é culpada, tem um salário baixo porque não estudou”. Não é porque há uma ação concentradora de riqueza por parte do Estado em favor dos que já concentraram, é porque você não estudou, então, estude. Se você não pode estudar, que seu filho estude, você já é um indivíduo descartável, há populações descartáveis, como já disseram, aliás.
Tantos computadores para pessoas que não sabem nem usar o quadro-negro. É extraordinário. É um bom negócio, é uma bela operação comercial, certamente, para a empresa que vendeu os computadores, em especial se for prevista em contrato a manutenção desses computadores, a elaboração de programas, melhor ainda. Wagner Nabuco – O senhor diria que essa política de abertura na área econômica prejudica segmentos do empresariado nacional? Não sou empresário para falar por eles, mas acho que estão muito preocupados. A situação geral é difícil para o empresariado nacional. Não estamos falando do empresário estrangeiro no Brasil: em geral, esse não está preocupado com política industrial, até porque as grandes empresas multinacionais têm estratégias mundiais. Mas há empresas nacionais bastante competitivas, que já exportam, inclusive, e que acham que a remoção dos obstáculos no comércio internacional faria com que aumentassem ainda mais suas exportações. Em cada setor, há uma gama de níveis tecnológicos, desde empresas altamente modernas até outras menos eficientes e, se o indivíduo está na empresa de ponta, acha que vai ter acesso aos mercados internacionais. Pode acontecer com ele uma coisa curiosa: ele está competindo lá, mas, quando abrir lá, vai abrir também aqui, e mais aqui do que lá, então ele pode vir a sofrer a competição aqui, de empresas que são muito eficientes lá. E existe uma espécie de mitologia, na área empresarial, sobre livre comércio, que seria uma coisa boa em si.
\261_
#16_ Samuel Pinheiro
JOÃO DE BARROS - Então, empurrar a Alca para 2005 seria mero paliativo? O problema não é de prazo. Do ponto de vista estratégico, imagino que esteja acontecendo o seguinte: os Estados Unidos procuram negociar nos setores que interessam a eles e não negociar naquilo que não interessa. Tentam obter concessões que lhes interessam, atuando em duas frentes – negociam diretamente com alguns países, ao mesmo tempo em que estão reativando as negociações multilaterais na Organização Mundial de Comércio. Vão fazer negociações no âmbito das Américas procurando obter concessões. Se, lá na frente, eles tiverem um “pacote” de concessões obtidas em setores interessantes, podem ir ao Congresso americano e obter autorização para negociar só naqueles setores. Nada impede. Pode ser assim que o Congresso responda: “Vocês estão autorizados a negociar compras governamentais, comércio eletrônico, direito ambiental... e assim por diante e não estão autorizados a negociar produtos agrícolas”, por exemplo. Eles podem voltar aos países da América Latina e dizer: “Vejam, estamos autorizados a isso aqui, vocês não querem assinar? Depois a gente negocia o resto lá na OMC”. Como estão dizendo hoje. A estratégia é de comprometimento gradual: “Vocês já aceitaram aqui, por que não aceitam acolá?”. Os americanos já propuseram uma área de livre comércio aos europeus, já propuseram o mesmo para os japoneses no âmbito da Apec (Asia-Pacific Economical Cooperation) e ninguém aceitou. Por quê? Porque sabem que saem perdendo na disputa com os Estados Unidos, dadas as condições do sistema americano, tão poderoso que detém a moeda de reserva universal, o dólar, tem todos os meios de pressão, é o único país que tem realmente empresas multinacionais em todo o mundo, uma capacidade tecnológica extraordinária, investe em tecnologia o tempo todo através do sistema militar. E estamos numa negociação de
_262/
18 entrevistas _ revista caros amigos
tal assimetria, que é como o seguinte: o manager do Popó vai negociar com o manager do Mike Tyson das boas épocas as condições de luta. Aí, o manager do Mike Tyson diz assim: “Quinze rounds”. “Quinze rounds?” “Quinze rounds.” “E como é”? “Igualdade de condições para os dois.” “Vem cá, mas o Popó não pode levar uma metralhadora?” “Não, não pode. Ele tem que lutar em igualdade de condições com o Mike Tyson, de luvas, dentro do ringue.” “Mas o Popó não pode fugir?” “Não pode.” “E as regras são iguais para os dois lados?” “São iguais para os dois lados.” Aí diz o manager do Mike Tyson: “Não se preocupe. Nesse período de 15 rounds, o Popó vai se fortalecendo e, quando chegar no 15º round, ele poderá estar lutando de igual para igual...”. Seria como a competição entre as empresas e megaempresas multinacionais americanas que têm centenas de milhares de funcionários. A GM tem um milhão de funcionários no mundo. WAGNER NABUCO - A GM faturou 400 bilhões de dólares, quase o PIB brasileiro. Então, vamos competir de igual para igual? Algumas poucas empresas brasileiras têm unidades no exterior, como a Gerdau, a Cutrale, a Odebrecht, aliás, com muito mérito, mas a diferença de dimensões é tal, e das condições, principalmente. Não há como o processo ser de igualdade de condições, mesmo que se diga que os países subdesenvolvidos da América terão mais tempo para se adaptar, se preparar... JOSÉ ARBEX JR. - O senhor acha que iniciativas como o Fórum Social Mundial podem constituir um movimento internacional de resistência a esse processo? Acho que são importantes porque mostram à própria mídia que aquele modelo econômico considerado como modelo único não é realmente aceitável. E tem um papel muito importante no sentido de alertar para as polí-
Há uma preocupação que se pode sentir até em jornais mais conservadores, que continuam a praticar uma certa ironia, mas já há uma mudança de tom. O essencial é o indivíduo conhecer a si mesmo, como dizem os filósofos. Se o indivíduo acha que é Napoleão Bonaparte, aí começou mal, muito mal. Se você acha que é um país desenvolvido, começou mal, porque entrou num mundo de fantasia.
ticas utilizadas pelas agências internacionais ou mesmo para impedir que certos projetos prossigam, como o Acordo Mundial de Investimentos ou esse projeto da Alca, e também para despertar a sociedade para a necessidade de se articular. Mas o fórum em si não tem condições de substituir os organismos econômicos – as organizações não governamentais não podem substituir o Estado nem os partidos políticos. Pensar que o Fórum Social Mundial vai constituir uma organização mundial de comércio diferente é um absurdo, isso não existe. Porque são os Estados que determinam as normas internas, as negociações internacionais a partir das relações que estabelecem entre si, as agências que criam. Mas o fórum funciona como um fator de pressão muito importante, porque leva à denúncia, à pressão dentro dos próprios Estados.
SÉRGIO DE SOUZA - E a mídia não teria um papel preponderante nessa reação? Acho que deveria ter. Por exemplo, a partir do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, a mídia teve de reconhecer sua existência, teve de admitir que existiu e, até em certos jornais, verdadeiramente ou falsamente, não importa, há sinais de uma crescente preocupação social com esse tipo de política econômica, há uma preocupação que se pode sentir até em jornais mais conservadores, que continuam a praticar uma certa ironia, mas já há uma mudança de tom. O essencial é o indivíduo conhecer a si mesmo, como dizem os filósofos. Se o indivíduo acha que é Napoleão Bonaparte, aí começou mal, muito mal. Se você acha que é um país desenvolvido, começou mal, porque entrou num mundo de fantasia. Mas temos tido alguns choques de realidade. Por exemplo, a vaca louca. Havia no Brasil um mito, ainda persistente, de que o país iria se transformar em um grande exportador de produtos agrícolas, que o seu futuro é a agricultura. De repente, a vaca louca disse: “Olha, esse mercado aí é complicado, hein?”. É um mercado mundial e, de repente, um país qualquer, com uma alegação que não era verdadeira, cria um reboliço. Aí o pessoal diz: “Puxa, mas logo o Canadá, um país amigo, vai fazer uma coisa dessas...”. Não caiu na realidade de que os países amigos, às vezes, podem criar situações embaraçosas. Então, vamos exportar produtos de alta tecnologia, que beleza, a Embraer, os aviões vendidos, grandes concorrências vencidas. Aí, processo na OMC. A OMC, que era uma organização imparcial, ética, decidiu a favor dos canadenses e ficou todo mundo perplexo. Então, é necessário cair na realidade, a área da alta tecnologia também é problemática, o aviso é esse. A questão da Colômbia quer dizer: “Veja, o mundo não é de paz, não, a situação de guerra é próxima”. São esses choques, além do favor extraordinário que nos fez o grande ministro
\263_
#16_ Samuel Pinheiro
Cavallo, ao demonstrar: primeiro, que a dolarização é um negócio péssimo, que leva o país que a adota a situações de grande vulnerabilidade; segundo, implementar a Alca e o acordo com a União Europeia para o setor de bens de capital – basta a gente ver o que está acontecendo nesse setor para perceber o que aconteceria com o resto. Outro choque de realidade: o Mercosul, aqueles países amigos que iam ali fazer um bloco muito forte, resistente, a união dos países, dos presidentes da América do Sul, não é bem assim, não. Mas foi porque o choque da realidade muda a cabeça das pessoas. Por exemplo, a crise em 1929, no Brasil, acabou sendo algo extraordinariamente positivo, porque o país foi obrigado a sair do sistema agroexportador e descobriu que tinha de se industrializar. As pessoas achavam que o país tinha se industrializado desde o século passado, mas, na verdade, houve um surto de industrialização na Primeira Guerra Mundial e, quando ela acabou, a incipiente indústria se contraiu. Foi o choque de 1929 que abriu os olhos de todos. Talvez um próximo choque externo leve o Brasil à convicção definitiva de que esse modelo econômico, social e político – e quando digo político, atenção, é o sistema plutocrático, a pseudodemocracia em realidade plutocrática – não vai poder construir o país, a realidade é essa. Aplica-se um modelo há dez anos e a taxa média de crescimento da renda per capta é inferior a um por cento ao ano, totalmente insuficiente para um país com as características do Brasil, com disparidades sociais, em que a concentração de renda está igual. São dez anos em que não crescemos. Há a crise de energia aí, descobriram que a privatização não levou a novos investimentos. MARINA AMARAL - E aumentaram as tarifas barbaramente sem beneficiar os consumidores. Enfim, o que estou querendo dizer é o seguinte: talvez, apesar de poder ser dramática para a
_264/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O choque da realidade muda a cabeça das pessoas. Por exemplo, a crise em 1929, no Brasil, acabou sendo algo extraordinariamente positivo, porque o país foi obrigado a sair do sistema agroexportador e descobriu que tinha de se industrializar.
sociedade e para a economia brasileira, talvez somente a crise externa nos possa livrar desse modelo. JOÃO DE BARROS - O senhor foi demitido justamente por colocar essas posições. Exonerado do cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Itamaraty. Segundo as declarações oficiais à imprensa, porque teria dado entrevistas discordando de posição do governo. MARINA AMARAL - Mas haveria espaço para construir uma política independente? Todas as propostas no sentido de sair da subserviência, desde a questão da dívida externa até a questão de acordos como a Alca, são combatidas com o argumento de que o Brasil sofreria represálias internacionais. Não acho que sofreria represálias. Justamente quando se acena com essa possibilidade é como se utilizasse um espantalho para assustar a sociedade. O Brasil não tem obrigação de participar de nenhuma negociação nem de assinar nenhum acordo, não tem obrigação nenhuma, a não ser aquelas que já assumiu. Mesmo essas o Brasil poderia denunciar, é um procedimento normal, de modo que não há motivo nenhum para os Estados Unidos adotarem represálias
contra as exportações brasileiras. Isso é contrário à Organização Mundial do Comércio. Só porque o Brasil não quer assinar um acordo desigual pelo livre comércio? Quer dizer, os países que se respeitam agem sem espetáculos, com tranquilidade, sem arrogância, com moderação, mas também com a firmeza que convém. O caso mais expressivo é o da Índia, como já citei, que não assinou o TNP (Tratado de Não Proliferação), explodiu as armas atômicas e, depois da reação inicial dos poderosos, o seu direito de ter armas nucleares foi implicitamente reconhecido. Não há represálias. SÉRGIO DE SOUZA - Até que ponto, até que round, o Brasil está comprometido com a Alca? Que eu saiba, não há nenhum acordo assinado. Há declarações ministeriais, declarações presidenciais e tudo, mas são manifestações de intenção, não são compromisso. SÉRGIO DE SOUZA - Mas dentro do processo...? Na medida em que se participa de um processo de negociação, há um certo engajamento. Mas acho que nenhum processo de negociação é inexorável, porque participar ou não depende da consciência sobre a conveniência para os interesses do país de participar ou não dessa negociação. SÉRGIO DE SOUZA - Depende até das eleições para presidente. Das eleições, de convicção do próprio governo. Enfim... SÉRGIO DE SOUZA - O governo está convicto, o senhor tem dúvida? Não respondo pelo governo. Não posso interpretar o que o governo pensa. SÉRGIO DE SOUZA - Mas, como observador, o senhor acha que a tendência é de aceitar?
Não cabe a mim julgar as motivações, as intenções mais recônditas. JOSÉ ARBEX JR. - Qual o seu sentimento em relação à exoneração feita pelo Itamaraty num momento em que o senhor está defendendo uma perspectiva em prol do país? Parece uma punição contra aqueles que se levantam pelo país. Olha, o que posso dizer a você é o seguinte: estou absolutamente tranquilo. Não tenho nenhuma amargura. Estou tranquilo na medida em que acho que tinha obrigação e tinha bem o direito, que a Constituição assegura, de livre expressão do pensamento. Principalmente, não se tratando de nenhum segredo de Estado. É uma discussão teórica, acadêmica, sobre um tema, no caso a Alca. Agora, não tenho nenhuma amargura, muito pelo contrário, estou muito tranquilo. JOSÉ ARBEX JR. - Para sua carreira, o que significa? Como já estou no último nível de carreira, significa que fui exonerado de um cargo de confiança. JOSÉ ARBEX JR. - Qual foi o impacto de sua exoneração dentro do Itamaraty? O que posso dizer é o seguinte: muitos amigos e colegas meus manifestaram a sua solidariedade. Não quer dizer, necessariamente, que partilhem de meus pontos de vista. Foram manifestações fraternas, de solidariedade. Muitos achavam, inclusive, que não era correto o que estava acontecendo. Mas não tenho nenhuma pretensão a julgar o comportamento de quem quer que seja, realmente, não estou interessado. JOSÉ ARBEX JR. - É um diplomata até o fim. Não estou interessado nisso, estou interessado em política externa. Não estou interessado em pessoas, a não ser do ponto de vista da amizade. Mas discutir o que as pessoas deveriam ter feito, o que não deveriam ter feito, não acho interessante.
\265_
_266/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#17_ Sócrates _
Dezembro de 2000
Dr. Sócrates, de calcanhar Para Sócrates, todos têm de ser jogador, e não expectador ou torcida, na vida política. Cinco anos depois de sua morte, em 2011, o Doutor continua a ser forte referência para a democracia dentro e fora dos gramados. Mais de três décadas depois dos movimentos que sacudiram os corintianos e o País, e dos quais foi um dos protagonistas, seu legado pôde ser visto na nova onda que voltou a percorrer os estádios em 2016, com protestos de torcedores por democracia, transparência no futebol, contra o poder das grandes mídias e de apoio ao “não vai ter golpe”. De calcanhar, Magrão driblou a estrutura física franzina e entrou para a história do futebol, não só pelo talento que o tornou um dos melhores jogadores do mundo, mas também pela disposição em mudar e democratizar as estruturas de decisão dentro dos clubes. Também se posicionou no campo político para colocar novamente na jogada a liberdade "ampla, geral e irrestrita". Quando a ditadura se agarrava a seus últimos suspiros, foi uma das principais figuras que deram força à Campanha Diretas-Já. Vestindo a camisa da Democracia Corintiana e "camisa amarela", Brasileiro de nome e coração, Sócrates sempre se orgulhou de ser dono de seu nariz. Em 1984, o anticorintiano que cedeu aos “encantos” e à “paixão” corintiana, deixou o time e partiu para a Itália. Culpou o Congresso Nacional. Apesar de toda a mobilização e das panelas que batiam, naquela época, nas ruas e “descendo as favelas”, a emenda das Diretas não passou. “Isso vai demorar muito pra virar gente”, disse na época. Estava certo.
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira nasceu em Belém (PA) em 19 de fevereiro de 1954. Morreu em São Paulo em 4 de dezembro de 2011, mesmo dia em que o Corinthians foi pentacampeão. Médico, iniciou a carreira no futebol no Botafogo de Ribeirão Preto. Um dos principais articuladores da Democracia Corintiana e das Diretas-Já, capitão da Seleção, se aventurou ainda pela música e pelo teatro. Foi filiado ao PT e secretário de Esportes de Ribeirão Pretono governo Antonio Palocci (PT). ENTREVISTADORES Sérgio de Souza Márcio Carvalho João de Barros Ricardo Kotscho Verena Glass Marina Amaral Fernando do Valle Ricardo Vespucci Daniel Kfouri Fernando Barbosa
\267_
#17_ Sócrates
SÉRGIO DE SOUZA - Sempre começamos, como você deve saber, porque é leitor da revista, pela infância do entrevistado... Faz tempo, hein! (risos) Nasci em Belém, mas acho a história do meu pai mais interessante de falar do que a minha. Ele nasceu muito pobre, viveu seis anos no Ceará e não completou o primeiro ano do primário. Começou a se virar, correr atrás de trabalho, vender rapadura na feira, essas coisas todas. Depois, acabou entrando para o IBGE e foi transferido para o Pará, onde conheceu minha mãe. E, no ano em que nasci, 1954, ele fez concurso para a Receita Federal. Era um emprego absolutamente motivo de sonho para todo mundo. Ocorria a cada dez anos e era o maior salário da federação. O país todo, provavelmente, estava procurando esse cargo, e ele conseguiu se classificar em 18º lugar em 33 vagas. Conquistou aquilo sem ajuda ou educação formal. A partir daí, as coisas mudaram, e acabamos vindo para São Paulo. SÉRGIO DE SOUZA - Ele gostava de ler? Sim. Meu nome já é sugestivo da paixão dele pela leitura. Segundo ele, foi lendo os gregos que escolheu os três primeiros nomes dos filhos, já tendo certeza de que seriam homens: Sócrates, Sóstenes e Sófocles. Ele sempre gostou de esporte também, mas isso não teve muita influência nos filhos. Sempre nos deixou à vontade em relação a tudo, menos na questão da educação. Só depois fui entender que era por causa da história dele, que não tinha tido condições de estudar. MÁRCIO CARVALHO - E isso com todos? É, mas o primeiro filho é sempre o mais cobrado, é aquele que você usa como referência. Tanto que depois ele fez faculdade, mais ou menos na mesma época que eu. Mas tudo escondido, só ficamos sabendo depois que ele acabou. Primeiro, foi fazer o supletivo, em Taubaté.
_268/
18 entrevistas _ revista caros amigos
SÉRGIO DE SOUZA - Escondido? É, não queria demonstrar fragilidade em relação à cobrança que fazia da gente na questão educacional. Fez ciências contábeis, economia e direito. Era primeiranista de direito e dava aula para o quarto ano. (risos) De direito tributário, a área dele. SÉRGIO DE SOUZA - E a mãe? Ah, minha mãe é uma figuraça! Para aguentar sete filhos em casa – ela sempre fala que meu pai era o filho mais velho dela – , só ela mesmo. Eram seis moleques e, normalmente, tinha no mínimo 12. E meu pai ainda trazia outros tantos. Domingo em casa era uma loucura. Eu dizia que era o consulado cearense de Ribeirão Preto, todos os cearenses que estavam na cidade passavam por lá, necessariamente, para carimbar o passaporte. SÉRGIO DE SOUZA - E o futebol, aparece de que jeito? Bom, pratiquei vôlei, basquete, era esportemaníaco, mas gostava mais de futebol. Aí comecei a jogar no time do colégio, o Marista, que tinha um belo campo. Mas, no intervalo das aulas, a gente descia, tinha muitos abacateiros num dos pátios, e a gente jogava com caroço de abacate. Com 15 anos, fui convidado para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, porque o técnico do nosso time do colégio, Haroldo Soares, foi contratado pelo clube. JOÃO DE BARROS - Você falou que jogava com caroço de abacate, e hoje o aprendizado da criançada, pelo menos da classe média, é em escolinha de futebol. Isso tem ajudado a inibir um pouco a técnica do futebol brasileiro? A criatividade? Pode ser. Na verdade, quanto mais dificuldade você tem precocemente, mais interesse você acaba tendo em aprender. Se você joga num campo cheio de buraco, cheio de cupim, com árvore no meio, com a bola meio quadrada, você desenvolve algumas habilidades que, em
Segundo meu pai, foi lendo os gregos que escolheu os três primeiros nomes dos filhos, já tendo certeza de que seriam homens: Sócrates, Sóstenes e Sófocles. Ele sempre gostou de esporte também, mas isso não teve muita influência nos filhos. outras situações, não seria obrigado a desenvolver. Cansei de jogar em campo de futebol com uma mangueira no meio. O tempo todo você tem de estar com o olho virado para a mangueira, senão dá uma porrada nela ou na raiz, que fica na superfície. Então, já é uma tendência você começar a enxergar o jogo de forma diferente, não só a bola. É um exemplo simples, mas acho que cabe na sua pergunta. RICARDO KOTSCHO - Como surge seu interesse pela política? Foi no movimento estudantil, na escola você participava de alguma coisa? Na época do golpe, eu tinha dez anos. E uma das imagens que me marcaram foi ver meu pai queimando livros. Eu não entendia direito. Aliás, nesse aspecto, meu pai sempre procurou nos preservar. Nunca gostou que tivéssemos atitudes mais agressivas em relação ao sistema. Primeiro, pela insegurança dele, quer dizer, quem teve uma vida dessas sempre tem medo de perder o que conquistou. O interesse sobre a realidade política do país passou a ser mais presente em mim quando entrei na faculdade, tinha 17 anos. VERENA GLASS - Na faculdade, você chegou a assumir algum tipo de liderança, participou de algum movimento? Não. Quando entrei, comecei a buscar informação para formular uma ideia, um conceito. No final do curso é que comecei a participar mais
ativamente, foquei mais próximo do diretório acadêmico. VERENA GLASS - E, nessa época, o futebol ficou como? A partir do terceiro ano, eu já estava jogando profissionalmente. JOÃO DE BARROS - Como você vivia esses dois mundos aparentemente opostos, o da universidade – com toda essa coisa política – e o do futebol, em que esses problemas raramente são questionados e discutidos? Aquele foi talvez o momento de maior aprendizado que tive na vida. Porque essa é a vantagem do esporte, te coloca junto com outras realidades sociais. Antes disso, não, porque no colégio particular todo mundo está no mesmo nível, mas, quando fui para o Botafogo, com 15 anos, comecei a conviver com aquilo de que só tinha ouvido falar: fome, desemprego, desnutrição. E muito proximamente, porque sempre estava muito junto das pessoas. Você passa a participar da família de quem vai ficando seu amigo, e comecei a perceber que vida é essa. Você ouve falar que tem muita miséria, mas, se não estiver junto, comer o que o cara come, sentir na pele as dificuldades, fica uma coisa muito distante, superficial ou até irreal – você cria uma fantasia em cima disso. Então, foi o grande aprendizado de vida, poder conviver com essa realidade por meio do esporte. E nunca foi difícil para mim, porque gosto de viver tudo. E tudo do mais simples, não quero ter frescuras, não. VERENA GLASS - Naquela época, o futebol já era uma coisa milionária? Você ganhava bem? Meu primeiro contrato dava para gasolina e cerveja. Eu estava felicíssimo, era a coisa mais linda do mundo. (risos) VERENA GLASS - Contrato profissional?
\269_
#17_ Sócrates
Me lembro que ganhava 500 contos. Não lembro que conta era mais. (risos) E só por isso que pensei: “Vou arriscar”. Primeiro, porque era ficar independente do meu pai, não ia precisar mais pedir a mesadinha e, depois, que ia poder tomar minha cerveja sem muita dura e tal. RICARDO KOTSCHO - Depois que você virou profissional, pegaram muito no teu pé com esse negócio de cigarro, cerveja? Nunca esquentei a cabeça com a opinião alheia. Quando era adolescente, me incomodava demais. Aí, num período da vida fiquei pensando: “Pô, mas por que me interesso tanto pelo que as pessoas pensam sobre mim? Defeitos eu tenho, vários. E, se não puder sobreviver com as coisas que sou, caio fora, faço outra coisa”. RICARDO KOTSCHO - Hoje, todo mundo fala dessa sujeira toda do futebol – naquela época, já se ouviam histórias de jogadores que eram vendidos, juízes comprados, dirigentes corruptos? Para existir corrupção, tem que haver dinheiro. O futebol não era uma coisa muito rica, pelo menos o mundo em que eu vivia, era um time menor, de interior. O que se ouvia muito falar era compra de juiz, doping – anfetaminas. Corrupção poderia existir, mas era coisa pequena, até porque o mercado era limitado. Hoje estourou porque tem muita grana envolvida. RICARDO KOTSCHO - Você já tinha recusado time grande nesse tempo? Já. Durante o período em que estava estudando, inclusive. Mas quis sair só depois de formado. Aí renovei o contrato com o Botafogo e falei que o primeiro time que aparecesse eu ia embora. Só que demorou sete meses para aparecer alguém. (risos) Quer merda! Agora que eu quero, ninguém vem! (risos) SÉRGIO DE SOUZA – Como foi o episódio?
_270/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Eu era anticorintiano. Quando garoto, era santista. Aliás, todo mundo que não é corintiano é anticorintiano. Esse foi o primeiro trauma quando cheguei aqui. E passei seis anos levando dura porque meu carro era verde, um Fiatzinho verde. A turma dizia: “Pinta esse carro de preto”. Foi com o São Paulo. O Galvão (Manuel Nunes Galvão) era o presidente e acertou tudo com o Botafogo. Eu não estava nem sabendo direito. Ele ia fazer um negócio casado com o Corinthians. Vendia o Chicão para o Corinthians, pegava outro jogador, acho que era o Cláudio Mineiro, o reserva do Vladimir, mais uma grana e com essa grana me contrataria. Ele ia vender o Chicão e pegava dois jogadores. Aí o Matheus (Vicente Matheus) ficou sabendo do negócio. “Se ele pegou essa grana para pagar esse cara, esse cara deve ser bom. Então, vou lá eu.” Aí o Matheus foi no Botafogo e fechou o negócio. (risos) RICARDO KOTSCHO - E diziam que o Matheus que era burro, né? Pois é. SÉRGIO DE SOUZA - Você era corintiano? Eu era anticorintiano. Quando garoto, era santista. Aliás, todo mundo que não é corintiano é anticorintiano. Esse foi o primeiro trauma quando cheguei aqui. E passei seis anos levando dura porque meu carro era verde, um Fiatzinho verde. A turma dizia: “Pinta esse carro de preto”. Uma vez escutamos uns papos atrás do vestiário... Alguém dizendo que queria bater na gente, em mim, particularmente, porque havíamos perdido o jogo. No jogo seguinte, fiz três gols e nem olhei para a torcida. Baixei a cabeça. Aí fiquei
com aquela imagem de quem não comemorava os gols. Foi exatamente nesse jogo. Fiquei de costas, parado, “não quero abraço, não”. Aí os caras: “Ô! Você é mal-educado demais, meu!”. “Domingo passado, queriam me bater, agora querem me abraçar? Eu não!” Aí você começa a criar uma relação honesta com a torcida. VERENA GLASS - Vem daí a fama que você pegou de ser um cara frio? Não, para jogar, eu tinha que ser frio. Se você for sentimental jogando bola, está perdido, porque, se a torcida vaia, você não joga; se ela aplaude, você joga muito. Você não tem racionalidade nenhuma. E o futebol é fundamentalmente um jogo psicológico. Primeiro, é o único esporte em que o pior pode ganhar. Pior no jogo, não antes dele. Cansei de ganhar jogo em que meu time dava um único chute no gol, o outro chutava cem, esse um ganhava de um a zero. Quando jogava no Botafogo, isso era muito comum. E, segundo, é um jogo que tem a presença maciça de público. Esse bicho interfere em tudo. RICARDO KOTSCHO - Hoje menos, não? Porque não tem o maciço, né? RICARDO KOTSCHO - Isso muda muito? Muito! Porque o público joga. Eu passava o jogo todo tentando trabalhar esse público para o meu lado. Tem algumas coisas que não se faz aí, e eu não sei por quê. Por exemplo: um clássico, o estádio cheio, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Puxar a torcida para o teu lado. Empolgar a torcida, fazer participar e matar a do adversário. Quando fui técnico do Botafogo, no clássico Come-Fogo Comercial x Botafogo de Ribeirão Preto, tinha um ponta esquerda, Toninho, que gostava de palhaçada. Eu mandava que dessem todas as bolas no Toninho. E dizia para ele dar chapéu, tocar a bola no meio das pernas do adversário, não passar para ninguém, nem
que perdesse a bola. Em cinco minutos, o time adversário já estava morto. E a torcida: “Uah! Uah!”. Com o público do seu lado, você é muito mais forte. RICARDO KOTSCHO - E como você, jogando, levanta a torcida? Drible! De calcanhar, é lógico. (risos) Clássico tipo Corinthians e Palmeiras, primeiros cinco minutos eram quinze passes de calcanhar. (risos) VERENA GLASS - E essa história de que os passes de calcanhar têm a ver com a lenda de que teu pé é pequeno e, então, é mais fácil lidar com a bola? Não é que são lendas, era um artifício que eu tinha de usar. A base de todo o raciocínio do meu jogo é a seguinte: quando eu era moleque, era bom jogador, então pegava a bola e driblava dois, três, às vezes fazia um gol driblando um monte de gente. Quando comecei a me aproximar do time principal, vi que seria impossível jogar daquele jeito; eu pesava 72 quilos, sem treinar, do outro lado tinha armários assim desta largura... Luiz Pereira, por exemplo. A primeira vez que joguei contra o Palmeiras, driblei o Luiz Pereira numa bola, a hora que eu levantei a cabeça... tá ele de novo na minha frente... Driblei de novo... tá ele de novo... Aí eu falei: “Pô, meu filho, você não se toca, não?”. (risos) Então, para sobreviver, tive que desenvolver outra forma de jogar, jogar com um toque só, porque, se o cara encostasse em mim, eu estava fora do jogo. Um toque só tem que usar tudo: ombro, cotovelo, cabeça, joelho, carcanhá, pé... tudo! Eu já usava o calcanhar porque jogava futebol de salão no time da faculdade, como pivô. RICARDO KOTSCHO - Mas o fato de você ser alto também era uma coisa que estimulava. Ah! É, alto, pé pequeno, só questões anatômicas; a biomecânica minha não me dá velocidade.
\271_
#17_ Sócrates
A não ser aquela velocidade de garça, né, depois de pegar o embalo. (risos) RICARDO KOTSCHO - E contusões, você teve alguma séria? Só na velhice, na fase de osteoporose. Nunca tive uma lesão grave, só depois de véio. Tive uma fratura de tíbia e de tornozelo e hérnia de disco. MÁRCIO CARVALHO - E a chegada no Corinthians, você teve que começar a treinar, ou também era sem treinar? Aí eu já tinha 24 anos. Comecei a treinar regularmente já no Ribeirão. Terminei o curso e, quando resolvi jogar futebol, entrei no ritmo normal. Só que não tinha físico, devagarinho fui aumentando a minha capacidade muscular, tanto que, quando cheguei à Copa do Mundo de 1982, quatro anos depois, já pesava 82 quilos. Já tinha massa muscular. Aumentei 8 quilos em quatro anos. RICARDO KOTSCHO - Como era o clima na seleção de 1978? Eram os milicos, né? Tinham muita influência, como era o ambiente? Ambiente de futebol é tudo igual. Mesma coisa insossa, não acontece coisa nenhuma. Concentração, os nego jogando baralho, jogando sinuca, assistindo televisão, dormindo... É ociosidade pública. (risos) Mas era uma delícia jogar na seleção. Só tinha nego bom do lado. Passei a vida toda jogando com nego ruim. Jogar com o Zico, então, foi tesão, porque a gente somava características. Vestir a camisa da seleção é um tesão também. RICARDO KOTSCHO - E aquele ditado consagrado: quando entra o Brasil, o adversário treme. Treme mesmo? Isso é normal. Quando você joga em casa, o time adversário vai ficar menor. Quando você joga contra seleção mais poderosa, você fica menor também.
_272/
18 entrevistas _ revista caros amigos
RICARDO KOTSCHO - Mas hoje a seleção, quando entra em campo, ninguém mais respeita, não é? Porque não é a melhor. Mas ainda é respeitada. MARINA AMARAL - Como foi o início desse movimento da Democracia Corintiana? Depois de alguns anos de Corinthians, um dos caras que pensavam de forma muito semelhante à minha era o Vladimir. A gente reclamava junto, de concentração, de nunca poder participar de decisões que diziam respeito só à gente. Por exemplo, decidir a que horas vai treinar, uma coisa simples. Quando você impõe a coisa, a turma já não gosta. Então, a gente tinha um grande descontentamento, já não aguentava mais. Nessa época, eu estava pensando em cair fora... Esse negócio de concentração, você não sabe o que é ruim. Para quem está de fora, é uma beleza. “Olha só, os caras ficam só em hotel cinco estrelas... comendo do bom e do melhor!” Tá louco! MARINA AMARAL - E é necessária a concentração? Só se for para se masturbar. (risos) Não tem nenhuma razão. Existem várias teses... Na realidade, é uma coisa tradicional, mas o que eles defendem é o fato de você estar numa “situação privilegiada, fica mais tranquilo, come melhor, dorme melhor”. Na verdade, isso só serve para prender o cara. Eu penso sempre o contrário: onde você come melhor, na tua casa ou num hotel? Onde você dorme melhor, no teu habitat ou em outro? E, quando você está preso, você sonha com quê? Com a liberdade. Se você está preso para jogar, você sonha com o fim do jogo, não com o jogo. Quando não está preso, o tesão é o jogo. Você está preso ali por 24, às vezes, 48 horas, está com o saco cheio, não quer nem saber de jogo, quer que acabe logo para ir embora. Grande parte do comportamento do atleta do futebol tem a ver com essa premissa. Fica preso o tempo todo e quando sai faz todas as besteiras do mundo em meia hora. (risos) Quer comer
todas as mulheres, quer beber tudo a que tem direito, tudo em meia hora. Então, concentração não serve para nada, só para que as pessoas continuem criancinhas, pequenininhas, continuem não pensando. VERENA GLASS - Mas era uma questão só de comportamento? Não, tudo. O sistema era muito chato, muito agressivo e a gente queria mais liberdade, brigava com os caras. Nosso time estava uma porcaria nesse final de 1981, e trocaram a diretoria, trocaram um monte de jogadores. Como agora. (risos) Aí entra o Adílson Monteiro Alves. Não entendia coisa nenhuma de futebol e caiu na besteira de falar: “O que cês acham?”. “Ah, nós estamos com o projeto prontinho, está aqui, ó!” (risos) “Tem que ser assim, meu, senão não tem jeito, e blá-blá-blá”. Aí começamos a exercitar. RICARDO KOTSCHO - A expressão Democracia Corintiana foi o Washington Olivetto que cunhou? É, ele batizou e fez um desenho, fez uma marca, e a gente começou a botar na camisa. Nós não tínhamos publicidade na camisa até então. RICARDO KOTSCHO - E deu certo? Demais! Aí foi uma delícia, o momento mais rico da minha vida profissionalmente, sem dúvida. RICARDO KOTSCHO - Dê um exemplo de como funcionava. Absolutamente tudo o que dizia respeito ao nosso trabalho – horário de treino, horário de viagem – era votado. RICARDO KOTSCHO - A escalação do time também? Não, isso era função do técnico. RICARDO KOTSCHO - E quem era o técnico? Tivemos alguns, o Travaglini no começo, de-
O negócio era o seguinte: nós vamos decidir que hora a gente quer treinar. Então, era votado por todos, o reserva, o titular, o diretor, o técnico, todo mundo envolvido no trabalho. Voto aberto, em roda. E a maioria simples levava. pois fizemos uma autogestão com o Zé Maria. Depois, o Jorge Vieira. Ninguém interferia no trabalho de ninguém. O preparador físico dava o treino que ele queria, o técnico fazia o que queria no treino dele. O negócio era o seguinte: nós vamos decidir que hora a gente quer treinar. Então, era votado por todos, o reserva, o titular, o diretor, o técnico, todo mundo envolvido no trabalho. Voto aberto, em roda. E a maioria simples levava. RICARDO KOTSCHO - E no país eram vésperas da abertura política. Exatamente, a coisa se tornou gigantesca por causa do momento que o país vivia. Mas era coisa simples e, para nós, uma delícia. Porque, mesmo perdendo na votação, você já se sentia cúmplice. A responsabilidade aumentava, porque a gente estava vendendo essa ideia: “Estamos decidindo tudo’. RICARDO KOTSCHO - E a Democracia Corintiana culminou com a campanha das Diretas. E foi uma delícia exatamente porque daí começamos a discutir todo o resto. Mas a concentração não foi abolida de cara, perdemos um monte de tempo fazendo campanha internamente. Depois de um ano, um pouquinho menos, conseguimos transformar a concentração em voluntária. Já era ótimo.
\273_
#17_ Sócrates
VERENA GLASS - E os efeitos dessa política no campo, vocês jogavam melhor? O efeito maior é exatamente aquele de quando você cria uma relação de cumplicidade, você cria uma grande família. Claro que sempre tem uma ou outra pessoa com quem você não se dá bem, mas, em geral, tivemos um movimento entre amigos, digamos. E isso num trabalho coletivo é absolutamente fundamental, e a possibilidade de dar certo é muito maior. Porque, dentro de um time de futebol, tem todos os sentimentos contrários que você possa imaginar: ciúme, inveja, competição interna, tem tudo contra o trabalho de grupo. Tudo, tudo. SÉRGIO DE SOUZA - Como acaba a Democracia Corintiana? E por quê? Eu saí no auge da Democracia Corintiana, em 1984. A coisa talvez tenha persistido mais algum tempo, mas acho que faltou quem segurasse a barra. Foi um processo, mas uma das coisas que tenho certeza que segurava muito aquilo lá era eu. Pelo fato de estar na seleção, capitão da seleção, segurava a bomba comigo: “Se quiserem derrubar, me derruba primeiro”. Depois que saí, a coisa talvez tenha ficado na mão de gente mais frágil dentro do sistema. Aí é mais fácil derrubar. Tanto que tiraram até o Vladimir, mandaram embora o Casão Casagrande, o Juninho... Começaram a limpar todo mundo. RICARDO KOTSCHO - E a política? Alguém tentou te cooptar para algum cargo político? Ah, sim, daí para frente até hoje. RICARDO KOTSCHO - Você entrou no PT, não é isso? Sou filiado, mas na época, não. Participava de um monte de coisa com o pessoal do PT. Foi o pessoal que mais vivenciei. Mas não queria ser candidato, nem me filiar. Achava melhor estar fora, na área esportiva, do que em uma ação le-
_274/
18 entrevistas _ revista caros amigos
gislativa formal ou dentro de uma estrutura administrativa, que é mais limitada, mais lenta. SÉRGIO DE SOUZA - Em 1984, você sai do Corinthians e vai pra onde? Florença! Culpa do Congresso, filho da mãe. Fui embora porque a emenda das Diretas não passou. Falei: “Vou embora dessa merda desse país! Isso vai demorar muito pra virar gente”. Como tinha falado que não ia embora se passasse a emenda, inverti e fui embora. Para Florença, e esse ano que passei no Fiorentina foi divertidíssimo e, ao mesmo tempo, muito traumático. A primeira história já diz tudo. Chego, no dia da apresentação tinha uma coletiva de imprensa, gente pra cacete. Arrumaram um intérprete para mim. Depois de uns 15 minutos, começo a perceber que o cara não está traduzindo direito o que eu falo. Não entendia muito bem o italiano, mas percebia que não tinha muito a ver comigo, o cara estava sendo muito conservador, digamos, na tradução. SÉRGIO DE SOUZA - Ele era do clube? Não, era um italiano que morava no Brasil. Aí falei: “Com licença, esse senhor aqui não está falando o que eu penso. Não tem nada disso, não”. Aí, tinha um outro que falava um pouquinho de português, chamei: “Você vai me ajudar; esse aí eu não respondo mais por ele”. (risos) As pessoas já ficaram... Bom, terminou a coletiva e me levaram para a frente do estádio. Tinha um púlpito gigantesco com aquelas varandonas e tal e estava a galera lá embaixo. Fiz meu gesto característico, que é o gesto do PCI (Partido Comunista Italiano). (risos) JOÃO DE BARROS - Era o conde de Pontello, o presidente do clube? Era, e eu falava: “Sou ponta esquerda mesmo, qual é o problema?”. Bom, aí me levaram pra um almoço na Piazza de Michelangelo, um lu-
Eu falava: “Sou ponta esquerda mesmo, qual é o problema?”. Bom, aí me levaram pra um almoço na Piazza de Michelangelo, um lugar lindíssimo, em um restaurante fino, e eu só não estava de bermuda porque, de resto, era como se estivesse indo para a praia. gar lindíssimo, em um restaurante fino, e eu só não estava de bermuda porque, de resto, era como se estivesse indo para a praia. Aquele ambiente fresco, enjoado. Tudo bem, como e tal. Nesse almoço, o filho do conde me convida para um aniversário, uma festa no palácio do conde. E eu declino do convite: “Não, obrigado, não é o ambiente que eu gosto, agradeço”. (risos) Tem outra: no dia em que cheguei, em vez de me levarem para o hotel, me levaram para um lugar longe sem dizer o que era. Chegando lá, tinha umas quinhentas pessoas, uma festa, com um joguinho de futebol, falei: “Volta”. Nem desci do carro. Imagina as manchetes do primeiro dia meu lá: “Não aceita participar de uma festa beneficente!” (risos) Aí comecei a treinar para a pré-temporada, me levaram nos Alpes. E tive um azar danado porque me machuquei no primeiro treino, de subida de morro. Também, não tinha músculo! Me colocaram aquelas roupas de esquiar. E sobe e desce, de costas e de frente, na terceira foi. (risos) Distensão. Fiquei uns vinte dias fazendo tratamento e voltei para Florença praticamente sem ter treinado. Voltamos para a cidade, aquela coisa de mudança, família, uma zona, que é um momento difícil, país diferente. Aí recebo um convite que era o que eu queria, me convidaram para um debate na Casa Del Popolo, em um quartiere daqueles, um debate sobre futebol. Falei: “Pô, agora estou começando
a entrar nesse clima”. O problema é que esse debate foi exatamente no dia e na hora da tal festa do conde. (risos) Foi uma delícia, cinco mil pessoas, a primeira vez que me meti a falar italiano – havia 15 dias que eu estava lá. Quer dizer, falava um “portuliano” muito mixuruca. Mas estava sendo entendido. Era o que eu queria. Só que, a partir daí, virou guerra. Bom, aí começou o campeonato, e para mim estava ótimo: outono, cada belo gramado, eu jogava pra caralho! Só que meu time era uma porcaria, ninguém me passava a bola e comecei a perceber que, dentro do time – não era só comigo –, tinha neguinho que não passava a bola um pro outro. Falei: “Tem alguma coisa errada nesse time aqui”. Aí descobri que existia um racha. Não sei quem tinha comido a mulher de não sei quem e separou o time. Eram dois times, e o bobo aqui, no meio. Os dois contra mim. (risos) Não se comunicavam, não se olhavam, não se falavam e não trocavam bolas no campo. Falei: “Pô, mas o quê estou fazendo aqui?”. Aí teve um dia, acho que o quarto ou quinto jogo do campeonato, que era em Roma, acabou o jogo, eu saí chorando de campo, puto. Abri o bico para os repórteres. Só que lá não tem rádio, pelo menos naquele tempo era assim, é tudo impresso. E a imprensa toda manipulada. Entrei no ônibus, fiquei na última fileira: “Cês são tudo uns babacas”. Xingando os caras: “Cês são uns frouxos! Vocês querem o quê?”. “Calma, Magrão”, “Calma o cacete! Vocês vão tudo tomar no rabo. E tem mais, vocês têm que resolver isso aí.” Provoquei uma reunião, reuni todo mundo, levamos no escritório do conde, aquela mesa enorme. O conde em uma ponta e eu na outra: “vocês me chamaram aqui para quê?”. E ninguém falava nada, aí eu: “Dá licença, acontece o seguinte: esse cara comeu a mulher desse cara, esse cara formou um grupo tal e tal. Esses caras não se falam, não trocam bola. A solução, com todo mundo já foi discutida, é tirar esse cara”. Que era o capitão do time.
\275_
#17_ Sócrates
JOÃO DE BARROS - Era o Passarela? Não, era o Pecci. E aí o Pontello falou o seguinte: “Não, não vou mudar nada”. Levantei da cadeira e saí fora. Danem-se, ué. SÉRGIO DE SOUZA - Foi para casa? Fui para casa. Aí passou o resto do ano nessa merda. Jogar bola, só consegui no outono e depois na primavera. No inverno, nada. Eu não tinha músculo, pô! E foi um inverno daqueles, todo jogo em campo enlameado, eu não conseguia jogar mesmo. E nessa época inventaram: “Ah, esse cara não joga coisa nenhuma, não quer nada”. A hora em que melhorei, que começou a primavera, só me sacanearam. VERENA GLASS - E daí não teve segundo ano? Graças a Deus! (risos) Eu saí correndo. RICARDO KOTSCHO - Quando você voltou, foi para qual time? Tem aquela história da Ponte Preta. Eu ainda estava no Fiorentina, treinando para a pré-temporada do segundo ano, e vim para as eliminatórias da seleção. Tinha conversado com o Corinthians, a Topper estava interessada que eu voltasse para o Corinthians, mas aí, um dia, liga para a Itália o tal de Luciano do Valle: “Ô, Magrão, quer vir pra cá? É que fiz uma parceria com a Ponte Preta, vamos explorar o estádio etc., você precisa vir para a Ponte Preta. Quanto você quer ganhar?”. “Se você me der a mesma coisa que eu ganho aqui...” RICARDO KOTSCHO - Estava bom, né? Bom, não, estava excepcional. Ele falou: ‘Eu pago!’ Falei: “Você não paga, você está mentindo. É coisa de dois milhões de dólares para os dois anos”. Como sou muito louco, perguntei: “Você tem 200 mil dólares aí?”. ‘Tenho no meu cofre.” E eu: “Então, o resto eu arrisco!”. Assinei o distrato no Fiorentina e vim embora sem
_276/
18 entrevistas _ revista caros amigos
A Topper estava interessada que eu voltasse para o Corinthians, mas aí, um dia, liga para a Itália o tal de Luciano do Valle: “Ô, Magrão, quer vir pra cá? É que fiz uma parceria com a Ponte Preta, vamos explorar o estádio etc., você precisa vir para a Ponte Preta. Quanto você quer ganhar?”. ter nada na mão. Chego aqui, o cara tinha 50 mil dólares, em vez de 200 mil. “É que furou o negócio da Bandeirantes...”. “É? E o teu cofre, também foi roubado? (risos) Vai pra puta que o pariu, vou voltar pra lá e brigar com os caras, pelo menos sei com quem estou brigando.” JOÃO DE BARROS - E você voltou para a Itália? Voltei para brigar, fiquei três meses brigando. Aí consegui fazer um acordo, me liberaram e apareceu o Flamengo, que tinha acabado de trazer o Zico de volta. Como sempre faço os negócios muito pior do que os outros, falei: “Ah, vou de qualquer jeito”. Até hoje não recebi do Flamengo. SÉRGIO DE SOUZA - Empresário você nunca teve? Não, não gosto disso aí, não. SÉRGIO DE SOUZA - Como você vê a questão do patrocínio no futebol? Ué, onde tem produto bom, tem patrocínio. Acho até que tem que usar mais. JOÃO DE BARROS - O Corinthians hoje parece o time da Pepsi Cola, não parece mais o Corinthians. Camisa, distintivo, tudo Pepsi Clube, como diz o nome, é uma associação de pessoas com determinados objetivos comuns, não é uma empresa. Mas tem que ser encarado como empresa. Você
emprega, você gasta e tem que tratar como empresa. Está com problema porque não é tratado como empresa. JOÃO DE BARROS - Como é tratado? Como é essa relação? É uma empresa que não tem nenhum controle sobre ela, que mobiliza uma baita grana e não presta conta para ninguém, não paga nada, o dinheiro ninguém sabe para onde vai. O problema é esse. Agora, é uma empresa, você vende, compra, empresta. RICARDO KOTSCHO - Se a CPI do futebol te chamasse, o que você gostaria de dizer? Eu gostaria de ter um dossiê na mão, se tivesse, eu iria. Saber como está a conta bancária desses caras, onde estão as casas que eles compraram... tudo. JOÃO DE BARROS - Esses caras quem? Os dirigentes, claro! Você acha o quê, esses caras não trabalham, como é que ficaram ricos? De onde vem esse dinheiro, caiu do céu? Coincidentemente, caiu em cima do prédio da Federação. Eu não tenho documentos, mas é óbvio que isso acontece. A corrupção é plena. Existem situações de que você até ri. JOÃO DE BARROS - Por exemplo? Tem técnico aí que indica jogador e pega 30 por cento das luvas. Os caras estão comendo de tudo quanto é lado, virou um antro. RICARDO KOTSCHO - A seleção brasileira, por exemplo, em dois anos, Wanderley Luxemburgo convocou setenta jogadores – coloca a camisa da seleção vira pop, valoriza o passe, no seu tempo tinha isso? Não. Pelo menos a gente não percebia. Não é só com o Luxemburgo, isso aí é mais velho. Que eu me lembre, no tempo do Lazarone, jogador que
era convocado uma vez, no dia seguinte estava sendo transferido para tal lugar, e nunca mais voltava. Desde o final dos anos 90, eu percebo isso. Não dá para afirmar que tem mutreta, mas dá para imaginar que alguém está ganhando em cima disso, e não falo só eventualmente do treinador. Por exemplo, o Macula está afirmando que pagou 50 mil dólares para se transferir do Juventude para o Palmeiras com o mesmo patrocinador, e a defesa diz que o negócio foi feito entre eles. Eu falo que o cara leva 30 por cento com a indicação do jogador. MARINA AMARAL - E o Macula pagou para quem? Diz que pagou para o Wanderley. Foi o primeiro atleta que se manifestou e espero que os outros vários que foram de alguma forma induzidos a isso se manifestem. FERNANDO DO VALLE - E isso depois não pode dar rolo para o jogador, no caso para o Macula? Provavelmente, deve dar algum tipo de discriminação do sistema. Se for verdade o que a gente imagina, quem denuncia e está dentro do processo será alijado, mas acho importante que as pessoas se manifestem para romper com isso. Isso é extorsão pura e simples e dá direito a alguns aninhos, no mínimo meses, de cadeia. Mas o negócio é assim mesmo: o cara joga na seleção um jogo e já vale 5, 6, 10 milhões de dólares, e ninguém sabe nem quem é ele. Os jogadores que estão na seleção hoje são fraquíssimos. MARINA AMARAL - Quais? Não precisa nem citar, aliás, fica mais gostoso imaginar. Vamos ver quais são os fraquíssimos aí. (risos) JOÃO DE BARROS - Os casos de corrupção se restringem só à compra e venda de jogador? Vou dar um exemplo de como funciona o esquema em nível de Confederação (CBF). Ela centra-
\277_
#17_ Sócrates
liza – não sei como se chegou a esse ponto – todo o capital e as federações são dependentes dela para sobreviver no dia a dia. Toda vez tem que pegar dinheiro lá, tipo esmola. Óbvio que se cria uma relação de poder absoluto, sem dinheiro você não sobrevive. E esse dinheiro fica centralizado, ninguém presta contas dele. RICARDO KOTSCHO - Direitos, por exemplo, de televisão. Direitos de televisão, a Nike. A Confederação gere todo o dinheiro que envolve a seleção brasileira. Ninguém controla esse dinheiro. Está na mão de um cara! Claro que as federações devem pagar alguma coisa para a Confederação, mas ela centraliza todo o capital e sem controle nenhum. Está na mão de um só. Posso ser o maior santo do mundo, mas, se você me der todo o seu dinheiro para gerir e eu estiver meio apertado, vou pegar meio emprestado. SÉRGIO DE SOUZA - Se o nome for Ricardo. (risos) Ninguém controla esse dinheiro, ninguém sabe para onde vai, de onde vem... deve estar por aí. Existem caminhos aéreos para as moedas que a gente desconhece. Eu pelo menos não cheguei lá ainda. Tive conta na Suíça, quando ganhava na Itália, depois trouxe tudo embora e acabou. Mas, daqui para lá, nem sei como funciona, não acho nem que é ilegal, tem caminhos legais para isso, mas, na verdade, esse dinheiro não é controlado. Esse cara faz o quê na vida? Ele abriu um bar depois da Copa de 94. Haja dinheiro, sobre grana, nem genro do outro ele é mais! Aí vem a Federação Paulista, mesma coisa, todo time do interior de São Paulo passa o ano pedindo grana para o Farah. O Farah centraliza todas as negociações, sem nenhum controle, ninguém sabe o que está acontecendo, nenhum contrato final. Você vê a Federação Paulista, é riquíssima, ele também, e os clubes são todos
_278/
18 entrevistas _ revista caros amigos
pobres. Não tem controle nenhum, por isso a briga para que tudo se torne empresa, para ter responsabilidade fiscal. SÉRGIO DE SOUZA - Mas o que você espera da CPI? Espero que mexa com quem está se locupletando, e as pessoas que estão nessa situação todo mundo sabe. É só chegar perto que vão descobrir alguma coisa.
FERNANDO DO VALLE - Quem são essas pessoas, os dirigentes, quem mais? Muita gente. Tem desde quem está ganhando caminhão de dinheiro, quem está ganhando uma Kombi, até quem está ganhando uma Saveirinho. Me importa que acabem com isso, tem que ser exemplo para o país. O futebol é que dá mais visibilidade ao país, e uma das lutas fundamentais que a gente tem que ter para a estrutura desta nação é brigar contra a corrupção. FERNANDO DO VALLE - E o Eurico Miranda, você acha que ele ganha uma Saveirinho, um caminhão? Em primeiro lugar, ele é uma figura absolutamente discutível, um cara que se elege deputado federal e fala que só faz ações de interesse do Vasco da Gama, está achincalhando, está sujando cada voto que recebeu. E obviamente que ele tem uma série de ações absolutamente discutíveis, não sei qual o grau de envolvimento dele, mas nunca saí de casa com dinheiro dos outros no bolso. SÉRGIO DE SOUZA - Isso aconteceu uma vez com ele? A renda de um jogo do Vasco foi roubada do bolso dele. Ele estava levando para casa. É um fato notório, todo mundo conhece o episódio. SÉRGIO DE SOUZA - O Vasco é patrocinado por um banco, não é?
O Vasco da Gama fez um acordo fantástico com o Bank of America. O valor exatamente eu não lembro, mas era por 15 anos e não só o Vasco, a maior parte dos times que recebe toda essa grana na mão queima rapidamente, contrata jogador, faz tudo que tem direito em um mês e o dinheiro some, desaparece porque é queimado em contratações ou seja como for. Não necessariamente é desviado. E o Vasco começou com um contrato de 15 anos, hoje já são 99 anos renovando por necessidade. Não tem nada mais incompetente administrativamente que uma ação dessas. Isso mostra que o cara não tem responsabilidade nenhuma, não é coisa dele. Vê se ele faz isso na casa dele. Daqui a alguns anos, o Vasco da Gama não é mais do Vasco da Gama, é do banco. SÉRGIO DE SOUZA - E o contrato da Nike com a seleção brasileira? Quando ouvi a primeira vez, era algo em torno de 400 milhões de dólares por 10 ou 15 anos. Hoje, a CPI está discutindo 160 milhões. Cadê o resto? Para a Nike, não tem problema nenhum, é uma empresa fazendo negócio com outra empresa. Ela tem que responder para os seus acionistas, faz sempre o melhor negócio. O problema é quem controla isso, onde está essa prestação de contas. MARINA AMARAL - Mesmo com a presença do Eurico Miranda, você acredita que a CPI vai chegar a algum ponto? Dá para perceber que a verborragia do Eurico Miranda já começa a diminuir, começou a escamotear. O presidente da Federação Paulista já está dizendo que quer deixar a federação; o Ricardo Teixeira falou que vai deixar, que está cansado. Não tenha dúvida, vai começar nego a cair fora, vão abrir espaço para gente competente. SÉRGIO DE SOUZA - Já que estamos falando de política, você recebeu convite da Marta Suplicy para a Secretaria de Esportes?
Claro que as federações devem pagar alguma coisa para a Confederação, mas ela centraliza todo o capital e sem controle nenhum. Está na mão de um só. Posso ser o maior santo do mundo, mas, se você me der todo o seu dinheiro para gerir e eu estiver meio apertado, vou pegar meio emprestado. Não. Participei da elaboração de um projeto para a área. Nessa área não tem nenhuma novidade, a questão mesmo é ideológica, é filosófica do que se quer fazer. Você tem que democratizar as questões relativas à atividade física, esporte e lazer. MARINA AMARAL - O Pelé foi ministro dos Esportes, não aconteceu muita coisa; o Oscar foi secretário, também, não. Por que com atleta no cargo não resulta em nada? Ideologicamente, o Estado jamais se preocupou com essa área. Se você pegar o orçamento de qualquer município, além do estadual e federal, é ínfimo o valor destinado à área esportiva. E é uma grande burrice, porque hoje a atividade física é a maior promotora de saúde. Se você investir xis em atividade física, você economiza no mínimo 30 xis com saúde. As doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, você diminui o risco de enfarte do miocárdio, diminui o custo de internação. O mundo está fazendo isso, nós estamos fazendo o contrário. A gente não investe nada em atividade física, na divulgação disso, em espaços. Todo mundo sabe que o próximo século é o século da atividade física, do lazer, do entretenimento. Estamos fazendo o contrário porque não há o interesse político, não existe visão. Outra coisa aflitiva: como pensar em um país transformado se as pessoas da atividade que tem mais visibilidade – o esporte
\279_
#17_ Sócrates
– são despreparadas? O sistema empurra essas pessoas para a imbecilidade, principalmente no futebol; alguém tem que começar a se preocupar com a qualificação dos atletas – o clube, o patrocinador tem mais condições, porque contrata o atleta. Vamos valorizar esse cara, estou enlouquecido com essa ideia. SÉRGIO DE SOUZA - Mas, se for convidado para o governo da Marta Suplicy, você vai aceitar? Não estou pensando nisso. Acho que esse governo é muito importante para o próprio país. Temos nesses próximos dois anos um caminho que pode alterar talvez a trajetória do país. Eu sinto isso, mas preferia estar ajudando de fora, de alguma forma. SÉRGIO DE SOUZA - Você não quer, mas, se chegar o convite, você fala “não”? Não sei. (risos) Na verdade, eu queria criar um movimento para isso, uma fundação, uma ONG, sei lá. SÉRGIO DE SOUZA - Voltando à CPI, ouvi falar que até do Pelé vão aparecer umas tretas. Não ouvi nada, mas espero que todas as tretas apareçam, independentemente de quem seja. Deve haver mais tretas do que estou imaginando, não tem dúvida. RICARDO KOTSCHO - O que você está fazendo hoje, do que você vive? Eu vivo do amor, em primeiro lugar. (risos) O resto é secundário. RICARDO KOTSCHO - Mas de manhã você acorda e vai fazer o quê? Tenho planos que necessariamente não têm que ser executáveis, nunca tive compromisso com nenhum dos meus planos, mas tenho uma formação voltada para o esporte, sou ex-atleta, me formei em medicina, fiz pós-graduação em
_280/
18 entrevistas _ revista caros amigos
medicina esportiva, uma hora isso vai virar profissional, já tenho 80 por cento de um currículo que ninguém tem. Onde alguém pretender contratar um belo dirigente, que entenda do operacional do futebol, já tenho 80 por cento disso porque converso com o técnico, o preparador físico, com o nutricionista, o psicólogo, o ortopedista, o clínico geral, o fisioterapeuta, com conhecimento de causa. RICARDO KOTSCHO - Você poderia ser o coordenador técnico da seleção. Não agora, mais tarde. Mas é para isso que estou me preparando mesmo, porque em qualquer organograma empresarial, para chegar ao cargo de supervisão, você tem que passar por baixo de todas as linhas. Eu conheci um pouquinho de cada uma. Como você vai ser chefe de uma coisa que não conhece? A grande falha da estrutura do futebol brasileiro é essa, a direção não conhece nada do que acontece embaixo, então o poder fica centralizado na mão do seu funcionário e ele dita até a política da sua empresa, que é uma burrice sem tamanho. Hoje, os técnicos chegam em um clube e mandam embora tuas máquinas e contratam outras para fazer outra coisa e você permite isso. A cada seis meses está quebrando a sua empresa e tentando começar de novo. Então, resolvi ter uma experiência como técnico de futebol, precisava dessa prática, já tinha tido algumas, mas por períodos curtos, dois meses no Equador, estive no Botafogo, fui para Cabo Frio no ano passado. Essa foi legal porque pude executar uma série de coisas. Cheguei lá, não tinha nada, nem bola para treinar, tive que ser um pouco de cada coisa. Nutricionista, fisioterapeuta, ortopedista, técnico e fisiologista. Montei uma estrutura, o objetivo do time era chegar à primeira divisão, conseguimos, depois me mandaram embora, mas eu queria ter essa experiência, uma coisa prática, necessária para esse meu plano, e agora estou fazendo administração
existem os que usam a imprensa em benefício pessoal, tem muita gente que se coloca sob o guarda-chuva da imprensa para não ser destruída nunca, não arrisca nunca. Muitas vezes, são até comprometidos, isso existe muito. na Getúlio Vargas, administração esportiva. Fecho o meu currículo, pode ser que ninguém nunca me convide, mas tenho um baita currículo. RICARDO KOTSCHO - O doutor Sócrates nunca foi doutor, médico mesmo, de clínica? Já, depois que parei de jogar fiz pós-graduação aqui na Paulista, em medicina do esporte, montei em Ribeirão Preto uma clínica, com a mesma visão, uma clínica multidisciplinar, tinha nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta e eu fazia a fisiologia. Fechei depois de cinco anos. Resolvi ir para outras áreas. VERENA GLASS - E cantar, nunca mais? Estou com um disco pronto, de compositor. RICARDO VESPUCCI – Pelo amor de Deus! (risos) Pelo amor de Deus o cacete. É um disco de compositor, eu canto algumas coisas, mas o Toquinho está no disco, Carlinhos Vergueiro, Simone Guimarães, está um disco legalzinho... E aí, onde estávamos? Ah, no que estou fazendo. Estou me preparando para aquele plano e escrevo para a Gazeta Esportiva, colaboro no site do Corinthians e vou começar um programa na Rádio Trianon. RICARDO VESPUCCI - Comentarista? Não, é um talk show, ainda não está sedimentada a ideia, estou montando o piloto, fazer três entrevistas por programa com personalidades.
VERENA GLASS - Como é a relação entre o jogador e os jornalistas da área? A imprensa está presente o tempo todo. VERENA GLASS - Mas é importante para os jogadores ter a mídia? Vocês procuram esse tipo de relação? Não sei responder de forma generalizada. A minha relação com o jornalismo sempre foi profissional. Criei algumas relações pessoais que não têm nada a ver com a questão profissional, não sou uma pessoa que omite determinado tipo de opinião, o famoso off, em função de o cara estar trabalhando ou não, o que eu penso eu falo e acho a coisa mais natural do mundo. Agora, existem os que usam a imprensa em benefício pessoal, tem muita gente que se coloca sob o guarda-chuva da imprensa para não ser destruída nunca, não arrisca nunca. Muitas vezes, são até comprometidos, isso existe muito. Por outro lado, por exemplo, a Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), que é o órgão máximo da imprensa esportiva no Estado, recebe da federação. Como é que você pode ter independência se depende disso? SÉRGIO DE SOUZA - Nosso entrevistado da edição de outubro, João Silvério Trevisan, diz que em todo agrupamento, dos dois gêneros, sempre ocorrem relações homossexuais. No futebol, certamente também, não? Não tenho dúvida, mas nunca vi. É uma estrutura muito machista, nunca vi nenhum comportamento voltado para isso, e muito menos alguém que assuma. E, se alguém se manifestar, vai ser totalmente discriminado. MÁRCIO CARVALHO - Não tem nenhum jogador até hoje que tenha assumido que é homossexual, né? Nunca vi. Já soube de casos flagrantes e ações homossexuais, mas não vou citar nomes porque não fui eu que vi. Mas não tenho nenhum
\281_
#17_ Sócrates
preconceito. Estou falando que o meio é muito preconceituoso, até acho que os homossexuais masculinos são muito mais sensíveis do que qualquer homem, mais inteligentes, mais interessados em crescer. Tenho amigos homossexuais dos dois lados e acho um barato. E o prazer anal existe mesmo, as pessoas costumam rejeitar isso por puro preconceito, mas existe. MARINA AMARAL - Você disse que o futebol brasileiro vive um momento de mediocridade, mas fica parecendo contraditório, porque as condições dos jogadores hoje são muito melhores do que quando você começou, não? Em alguns segmentos são melhores. Na maioria dos clubes médio para baixo, não. Não acho que os jogadores sejam medíocres, acho que o nível técnico é muito inferior ao que tínhamos 40 anos atrás. Hoje, não existe naturalidade na seleção. As diferenças são muito grandes, os interesses sociais e econômicos mudaram muito. Nos anos 60, a maior parte dos jogadores era negra e de classes sociais muito inferiores porque era uma porção discriminada, marginalizada, e o futebol era a única opção de ascensão social. Por exemplo, as crianças, em vez de ficarem nas ruas pedindo esmola e fumando crack, ficavam jogando bola, era o divertimento da galera porque não tinha concorrente, hoje tem muito concorrente. A qualidade dessa seleção é que levava à qualidade do talento que explodia e que se destacava. Na minha época, a classe média já começou a se interessar pelo futebol como profissão. Talvez por culpa da realidade econômica do país, a classe média começou a ver o futebol como uma possibilidade profissional; e ela tem o poder, sempre teve, mas não valorizava. Obviamente, começou a drenar, a dirigir essa seleção. Começou a cair o nível, hoje já temos muito mais brancos – acho que todo mundo já aceita a ideia de que o negro é mais competente no futebol que o branco, com toda a sua formação cultural, é música, dança e futebol.
_282/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Oficialmente, o Brasil mobiliza 11 bilhões de dólares por ano no futebol – no mundo, são 250 bilhões. Você acredita que o Brasil mobilize 0,4 por cento disso? A estimativa é que mobiliza 24 vezes mais, 23 estão por fora, esse dinheiro não vai para o futebol.
SÉRGIO DE SOUZA - Tem todas as condições de ser em todas as outras. Claro, estou citando aquilo que é mais claro para a nossa cultura. O negro passou a ter dificuldade em passar nesse vestibular do futebol, então começou a cair o nível técnico. Além disso, outros fatores começaram a influenciar. Por exemplo, quando eu era garoto, os grandes jogadores permaneciam em seus clubes durante anos, não havia essa mobilidade profissional de hoje e, tendo estabilidade, você tem muito mais conhecimento, liberdade, alegria, e o futebol basicamente depende disso. Então, a gente sempre via os grandes jogadores. Estavam aqui toda hora. Assistia ao cara e queria fazer o mesmo no caroço de abacate, na bola de meia, você tinha em quem se mirar. Você não tem mais referência. Os melhores jogadores que o Brasil tem ou estão ou já estiveram fora do país. Você não vê os caras jogar. A gente cresce quando tem do lado alguém que sabe muito mais do que a gente, quer chegar perto, aprender com essa pessoa. O que precisamos hoje? Precisamos qualificar recursos humanos, para melhorar esse nível. Nunca nos preocupamos com isso, o que acontecia era seleção natural. Vamos ter que formar uma nova casta de profissionais, vai demorar um certo tem-
po para começar o ciclo com outra característica, aí vamos induzir uma seleção mais qualificada. A seleção natural não existe mais. Não vai cair mais do céu um Pelé, um Ademir da Guia, um Zico. Ou se qualificam esses recursos humanos ou vamos cada vez piorar mais. E os clubes europeus já estão levando os nossos moleques para formar lá, pegam o talento e formam lá. JOÃO DE BARROS - Uma coisa que a gente não citou ainda foi torcida organizada. Você não acha que essas pessoas deviam participar da gestão do clube? Primeiro, acho um absurdo tentar impedir a liberdade de organização, “não pode ter torcida organizada”. Isso é um ato absolutamente reacionário. Vocês vão falar que os caras estão fazendo muita bagunça. Mas aí é caso de polícia, prendam os que fazem bagunça. A relação da torcida com o clube é tão íntima que tem que ter esse canal de cobrança. Os times de maior torcida são os que menos têm comunicação benfeita. Você levanta uma hipótese no meio da torcida, ela vira verdade em segundos: “Ah! O cara é pipoqueiro”. Vira pipoqueiro. Se ficar por isso mesmo, no terceiro jogo esse jogador não consegue nem pegar na bola mais. Precisa ter essa comunicação o tempo todo, não é só quando tem crise. JOÃO DE BARROS - Mas você acha que a torcida teria direito de participar da diretoria, ter voz? Eu não colocaria classificando a origem do diretor e, sim, a sua qualidade, a sua competência para administrar um clube. Nada impede que ele seja torcedor, mas eu não colocaria ninguém incompetente apenas para agradar a torcida. SÉRGIO DE SOUZA - E, nessa conversa de clube empresa, você acha que um dia o Corinthians poderá se chamar Pepsi Cola? O objetivo não é esse, não.
MÁRCIO CARVALHO - Não é estranho torcer para o Banespa ou para a Pirelli? Mas é porque não sabemos administrar o que temos na mão. Por que time como o Corinthians faz um acordo, qualquer que seja, com a Topper? SÉRGIO DE SOUZA- Para promover os produtos Topper. Mas será que a remuneração que a Topper dá para o Corinthians é compatível com essas ações de marketing? Se eu sou Corinthians e sei administrar minha marca, vou com a marca Corinthians e não Topper. Tenho 20 milhões de consumidores, faço a minha linha de vestuário, vou explorar isso. MÁRCIO CARVALHO - A Nike não é mais forte? Que mais forte, nada! A Nike tem concorrente, o Corinthians e o Flamengo não têm, é o monopólio absoluto. Sou torcedor do Corinthians, compro Corinthians se tiver um produto do mesmo nível. Não estou defendendo exclusivamente a tese da transformação do clube em empresa, mas sim tornar transparente tudo o que está acontecendo aí. Oficialmente, o Brasil mobiliza 11 bilhões de dólares por ano no futebol – no mundo, são 250 bilhões. Você acredita que o Brasil mobilize 0,4 por cento disso? A estimativa é que mobiliza 24 vezes mais, 23 estão por fora, esse dinheiro não vai para o futebol. SÉRGIO DE SOUZA - Vai para a cartolagem? Não sei para onde vai. O problema é que não tem controle. É direito do Estado controlar isso, é muita grana, é um negócio muito grande, não é entidade privada sem fins lucrativos, não é isso. SÉRGIO DE SOUZA - Você está fazendo um livro com o Juca Kfouri. É uma biografia? É uma biografia comentada, a ideia é legal. Juntamos o material, o Juca vai escrever e pegar depoimento de pessoas que conviveram com
\283_
#17_ Sócrates
o personagem, a favor ou contra, de todos os lados. Em uma terceira parte do livro, vou comentar algumas coisas.
FERNANDO DO VALLE - Vocês conversaram sobre o quê? Futebol, política, história, sentimentos.
SÉRGIO DE SOUZA - Tem alguma revelação? Altas não, só as que aconteceram.
FERNANDO DO VALLE - Vocês falaram alguma coisa do Brasil? Ele é supercurioso, adora o Brasil, o futebol brasileiro, muito interessado na questão política do país. Louco para ter aqui um governo semelhante ao que ele pensa, sabendo, claro, que aqui é tudo muito diferente.
SÉRGIO DE SOUZA - No seu arquivo pessoal, há fotos com o Kadhafi... Fui convidado por um jornal de língua árabe, que tem a redação em Roma, para fazer uma visita de promoção do jornal na Líbia. Foi em 1996, e tive contato com o Kadhafi. Ele me convidou para visitá-lo, queria me conhecer, gosta de futebol, e foi uma aventura para chegar até ele. Em determinado dia, falaram: hoje vamos visitar o Kadhafi. Ele vive no deserto, a estrutura dele muda toda hora, todo dia. Me levaram de avião, coisa raríssima ter avião na época. A Líbia estava isolada do mundo, não podia chegar nada lá, nem medicamentos, inclusive cheguei por terra, descemos na Tunísia e fomos de carro até Trípoli, e o avião era da área de saúde, para transportar doentes. Aí fomos até essa cidade, que não lembro o nome, em torno da qual o governo estava funcionando. Passamos o dia esperando a convocação dentro de um quarto de hotel, sem saber o que ia acontecer. Ao anoitecer, nos chamaram, nos colocaram dentro de uma Toyota, demos algumas voltas: quando escureceu de vez, entramos por uma cancela, o motorista apagou todas as luzes, fomos em viagem às cegas durante 20 minutos – é a segurança dele – e tive a oportunidade de ficar uma hora conversando. MARINA AMARAL - E ele estava onde, em uma tenda? Tenda, um acampamento, ele vive assim desde o atentado americano. MARINA AMARAL - Que matou a filha dele. É, em 1986. Fui visitar também a casa em que ele morava, virou museu, morreu uma filha dele, de um ano, e ele estava em casa.
_284/
18 entrevistas _ revista caros amigos
SÉRGIO DE SOUZA - Você teve outras viagens marcantes... Outra interessante foi à China continental, em 1989. Fui jogando pelo Santos, fiquei quase um mês. É um país enlouquecedor, com uma população absurda, nada mecanizado, país agrícola, até para criar a possibilidade de trabalho para todo mundo, e consegue alimentar todo mundo. E todo mundo mora, essa é a questão, todo mundo tem uma casinha. FERNANDO DO VALLE - Há vários brasileiros jogando na China. Eles são louquinhos por futebol. Todos os jogos que fizemos, estádios lotados, estádios lindíssimos, coisa para 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas, e o grande barato é o estacionamento de bicicletas, todos iguais, e todos vão de bicicleta. SÉRGIO DE SOUZA - Você esteve no Japão também. O Japão é um barato. Já fui para lá umas dez vezes. É um contraste maluco, que é cultura ocidental, agressiva, pelo menos nas grandes cidades como Osaka e Tóquio, são as que mais conheço, com a cultura milenar. A primeira vez que estive lá foi em 1981, jogando pelo Corinthians e começou a me chamar a atenção essa coisa de futebol com a cultura japonesa, porque fomos fazer três partidas em pleno inverno, neve, contra a seleção japonesa olímpica, e to-
dos os jogos eram à tarde e só havia crianças no estádio, não era uma coisa comercial. Depois de alguns anos, voltei algumas vezes lá, comecei a perceber que tinha um processo ideológico naquele negócio. Percebi que os estádios de beisebol já não eram mais de beisebol, eram de futebol, e eu, curiosíssimo para entender como os caras incutem uma nova cultura esportiva, por que, quais eram os objetivos. MARINA AMARAL - Por quê? Uma das respostas mais coerentes que ouvi foi de um estudioso da cultura japonesa. Ele falou que isso foi determinado ideologicamente – e aí está de acordo com o meu conceito –, porque o futebol é o único esporte absolutamente coletivo. Em todos os outros, existe um jogador mais importante, o quarterback do futebol americano, o pitcher no beisebol, o levantador no vôlei, o armador no basquete, são os que determinam o jogo. No futebol, claro que existem as pessoas mais importantes, mas não existe um centralizador, então você tem que dividir muito mais. Alguns são para uma coisa, mas não existe um que determine tudo. Se o levantador no vôlei joga mal, o time perde, a única opção é trocar o levantador. Aquela posição é determinante, centraliza todas as decisões. Então, diz que os japoneses investiram no futebol exatamente por promover a valorização coletiva, porque toda a revolução industrial e econômica do Japão pós-guerra foi em cima de células de produção. As pessoas passavam a vida toda trabalhando juntas dentro da mesma empresa. Quando a situação econômica do país começa a ficar boa, todo mundo com mais dinheiro no bolso, começam a pensar em si próprias, largando um pouco toda aquela formação cultural. Então teriam feito essa coisa do futebol, e decerto outras, para tentar manter pelo menos por mais algum período esse tipo de perspectiva cultural. Eu achei interessante.
Fui convidado por um jornal de língua árabe, que tem a redação em Roma, para fazer uma visita de promoção do jornal na Líbia. Foi em 1996, e tive contato com o Kadhafi. Ele me convidou para visitálo, queria me conhecer, gosta de futebol, e foi uma aventura para chegar até ele. MARINA AMARAL - Tem algum jogador bom no Japão hoje? Tem um dos melhores jogadores do mundo, o Nakata, que joga na Roma. FERNANDO DO VALLE - Como você acha que vão se sair na Copa jogando em casa? Têm chance de chegar longe. Nas quartas de final chegam. Daí para frente não sei, eles estão crescendo bastante em termos de qualidade, sem dúvida alguma. O Japão hoje pode criar surpresa como os países africanos, como Camarões, Nigéria... FERNANDO DO VALLE - Você acha que para o Brasil se classificar precisa chamar o Romário ou vai ser fácil? Classificar é facílimo, temos poucos adversários no mesmo nível que a gente. Argentina é melhor que a gente. Colômbia no mesmo nível. MARINA AMARAL - Colômbia no mesmo nível? O futebol brasileiro está nesse ponto hoje. Você não assistiu Brasil e Colômbia? E foi aqui. Na Colômbia, eles foram melhores que o Brasil. Paraguai é um pouquinho inferior. Uruguai é inferior. Só tem a Argentina que é melhor, bem melhor.
\285_
#17_ Sócrates
FERNANDO DO VALLE - O que você acha que a CPI pode mudar na estrutura do futebol brasileiro? Ela pode acelerar o processo de transformação, de ruptura, porque o futebol está na fase de ruptura, se os clubes não se modificarem, eles podem afundar. Por que os estádios estão vazios? Porque ninguém quer ser mal recebido, um lugar que não tem estacionamento, não tem segurança, não tem banheiro, não tem restaurante, não tem nada. Por isso tem que profissionalizar, tem que ter formação de recursos humanos, ter qualificação de pessoal. Quem é o cara que desenvolve esse trabalho? É um cara mal qualificado, mal remunerado. É a história do professor hoje em dia. É um cara despreparado e mal remunerado. Principalmente no aspecto administrativo tem que mudar ou você parte para a formação de uma política determinada para cada clube, ou você vai acabar desaparecendo. FERNANDO DO VALLE - Mas os times estão falidos, a maioria deles, tem algum time hoje que esteja bem financeiramente? Muito poucos e só aqueles que têm parcerias boas, mas também porque não há planejamento, Por exemplo, na Europa, a televisão é uma grande parceira do futebol, mas ela representa 30 por cento do faturamento dos clubes. Aqui, alguns clubes grandes chegam a depender em 80 por cento da receita da televisão. É uma dependência brutal. Se ela cair fora, o clube quebra. SÉRGIO DE SOUZA - Os acordos com a televisão são feitos pelo clube ou pela federação? Lá é a liga, que é formada pelos clubes. Existem executivos contratados para gerenciar a liga, executivos competentes. Aqui não, é questão política, o cara é eleito de acordo com determinado interesse. Sérgio de Souza - A liga de lá é equivalente à federação daqui?
_286/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Sim, mas quem dirige são profissionais contratados para aquilo. Se o cara fizer merda, ele cai fora, não é questão política. O cara não tem mandato, ele é contratado, tem que fazer direito. A liga não pode ser rica, ela gerencia o dinheiro dos clubes, ela repassa tudo para os clubes. FERNANDO DO VALLE - Mas os clubes brasileiros não se sujeitam ao esquema que está aí porque participam de muito rolo, de muita maracutaia, não é? É, deve existir muita coisa errada por trás disso tudo. FERNANDO DO VALLE - E o difícil é quebrar isso. Difícil não é, os clubes precisam se tornar empresas, daí tem que ser sério. SÉRGIO DE SOUZA - Mas não vão se tornar agora? Não, na Lei Pelé era obrigatório, mas transformaram a legislação, não é mais obrigatório, não, ninguém virou empresa. Vai acabar o passe. Agora, se não mudarem... Os caras preferem vender o Michelangelo do que a obra dele. É muita incompetência. Em vez de vender a obra intelectual, vendem o intelectual. Essa é a nossa realidade, o futebol brasileiro. SÉRGIO DE SOUZA - Por falar nisso, e as obras do Sócrates? Vou falar das atividades paralelas, do Magrão produtor de teatro. Tenho uma imensa capacidade de perder dinheiro. JOÃO DE BARROS - Que peça você produziu? Chama Perfume de Camélia. O dia em que resolvi fechar o teatro (o Ruth Escobar) porque estava ficando muito caro, encheu. Era de graça, mas, mesmo de graça, quando é ruim não vai ninguém, não é? O disco também eu banquei, mas já empatei. Fiz um negócio com o pessoal do COC (cursinho) lá em Ribeirão. Eles
Até porque é impossível não virar corintiano depois de viver aquilo lá, porque a paixão é tão louca que ou você se afasta, ou entra no encantamento, não tem jeito. Não é comparável a nada com que eu tive contato na vida. Talvez falte para algumas coisas no Brasil essa consciência. compraram alguns discos e deu para cobrir as despesas. DANIEL KFOURI - Você virou corintiano de vez, né? Até porque é impossível não virar corintiano depois de viver aquilo lá, porque a paixão é tão louca que ou você se afasta, ou entra no encantamento, não tem jeito. Não é comparável a nada com que eu tive contato na vida. Talvez falte para algumas coisas no Brasil essa consciência. Você conseguiu trabalhar isso direito porque a paixão é muito louca, até quem não é corintiano sabe disso, é uma referência. Doidaça, mais doido fui eu de enfrentar essa galera, muitas vezes enfrentei mesmo, mas ela jamais foi burra, essa é a grande vantagem. Aliás, o povo é de uma coerência tremenda, só que algumas coisas ele tem que conhecer melhor – nós mudamos o comportamento da torcida do Corinthians, fizemos ter calma durante o jogo. O Corinthians ficou 20 anos sem ter título, era uma loucura só, queriam matar quando não ganhava, queriam endeusar quando ganhava, sempre foi um exagero. Na nossa época, ela se acalmava, fazíamos gol no último minuto, “legal”. Quando eu jogava contra o Corinthians, no Botafogo, se em dez
minutos eles não fizessem gol, era vaia, a única chance que você tinha de ganhar. Mas a coisa da burrice, nunca, esse povo é muito inteligente, daí você começa a perceber: temos uma deficiência cultural interessantíssima, talvez seja uma das coisas que mais nos emperrem na busca do crescimento enquanto nação – não temos espírito comunitário, somos muito individualistas. SÉRGIO DE SOUZA - Você acha que a classe pobre também? Todos são, a nossa cultura é essa. SÉRGIO DE SOUZA - Quando você convivia com os jogadores pobres, não sentia que era diferente, não havia uma solidariedade maior? A solidariedade é uma coisa muito presente na sociedade, espírito comunitário é um pouco diferente. A organização de qualquer estrutura depende de você valorizar a sua comunidade, não a sua carência, isso só percebi quando fui secretário de Esportes, em 1993, no governo Palloci, Fiquei um ano e meio em Ribeirão Preto. Não tinha essa visão muito clara, aí percebi que existe uma tendência de sempre puxar para si, não para o grupo. Se a gente não mudar isso, sempre vai ter dificuldade. SÉRGIO DE SOUZA - Mas estão crescendo muito os movimentos comunitários. Sim, essas experiências vão começar a modificar esse espírito personalista, até porque é uma questão ideológica que vem de trás. Quando os movimentos grupais começarem a adquirir cada vez mais força, as pessoas vão começar a sacar que é outro caminho. FERNANDO BARBOSA - Tem que ter torcida para isso também? Não, é melhor ser todo mundo jogador. O dia em que todo mundo for jogador nesse time, não precisa de torcida, a gente já enche o campo.
\287_
_288/
18 entrevistas _ revista caros amigos
#18_ Zé Dirceu _
Janeiro de 2006
"Estamos vivendo uma fase macartista" “Não é o fim de uma história. É apenas uma pausa”, comunica o aviso na página de abertura do blog de José Dirceu ao anunciar a interrupção da publicação de novos textos. O espaço havia sido sua tribuna desde 2006, depois da cassação pela Câmara dos Deputados na madrugada de 1º de dezembro do ano anterior. A mensagem está lá desde dezembro de 2015 e permanecerá, avisa, até que “Dirceu possa voltar a se manifestar”. O ex-militante, ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil da Presidência havia sido preso em agosto daquele ano em mais uma fase da Operação Lava Jato. A prisão provocou reações, afinal, Dirceu já cumpria prisão em regime aberto pela condenação, em 2003, na Ação Penal 470, considerado por muitos um julgamento político em que, mais que fazer justiça, a Corte atendia a apelos bem menos nobres. Sem provas, foi condenado com base na teoria de “domínio do fato”, considerada mal interpretada inclusive pelo seu maior expoente, o jurista alemão Claus Roxin. Sobre a prisão na Lava Jato, disse o ex-procurador de Estado Márcio Sotelo Felippe: “Preciso ser convencido de que não se trata de uma arbitrariedade. Causa profunda estranheza. Pode ser mais um capítulo desse espetáculo do Estado policialesco, que vem criminalizando a política”.
José Dirceu de Oliveira e Silva nasceu em Passa Quatro (SP) em 16 de março de 1946. Líder estudantil, foi preso em 1968 pelo Dops, órgão de repressão da ditadura, no congresso da UNE em Ibiúna (SP). Em 1969, foi deportado em troca da libertação do embaixador dos EUA Charles Elbrick. Um dos fundadores do PT, foi deputado estadual, federal e ministro da Casa Civil no governo Lula. Foi cassado pelo Congresso em 2005 e preso, em 2013, pela Ação Penal 470. Em 2015, teve nova prisão decretada, pela Operação Lava Jato. ENTREVISTADORES Natalia Viana Marina Amaral Marcelo Salles João de Barros
“Estou sempre à disposição da Justiça. O que eu não posso é pela segunda vez virar chefe de quadrilha”, declarou Dirceu após voltar a negar envolvimento em corrupção durante depoimento à Lava Jato, em janeiro de 2016. Uma história que ainda não chegou ao fim. Uma pausa para ser recontada pela história.
\289_
#18_ Zé Dirceu
MARINA AMARAL - Gostaria de começar pelo Congresso. Qual sua impressão quando foi para lá pela primeira vez, e como vê o Congresso Nacional... Um retrato do Brasil. Expressa um país que ficou 24 anos sob ditadura militar, sem partidos políticos livres, um país que sofreu várias interrupções democráticas, em que o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade durante mais de 40 anos e onde o poder econômico tem um peso decisivo nas eleições. E também um Congresso onde já era patente a presença das forças políticas populares. A bancada do PT começava a crescer. Na eleição de 1990, se não me engano, o PT já conseguiu eleger 36 deputados. Depois, foi para 50 e tantos em 1991. A Câmara melhorou muito. Acho que precisamos avaliar com bastante transparência o que é o Congresso Nacional. Nesses dias mesmo, dei uma entrevista e não saiu essa parte em que eu dizia que não é verdade que os deputados não trabalham, que o Congresso não aprova leis importantes para o país, que o Congresso não funciona. Nesses três anos de governo do Lula, por exemplo, se você fizer um balanço do que o Congresso aprovou, vai ver que fez a reforma do Judiciário, a reforma tributária, a previdenciária, pode fazer uma reforma política, mudou a Lei de Falências, que não é pouca coisa, mudou a legislação imobiliária do país, que não é pouca coisa. Fora o que aprovou de medidas, como a MP do Bem, por exemplo, aprovou a Lei de Inovação, vai aprovar o Fundeb, aprovou a política industrial, o desarmamento, com o referendo. Posso estar esquecendo muita coisa porque nesses últimos meses não acompanhei mais. Então, acredito que o Congresso funciona. As comissões permanentes, as comissões especiais, as audiências públicas. No Brasil, existe emenda popular, existem as CPIs, que podem ser instrumentalizadas, partidarizadas, podem se transformar em instrumento do governo ou
_290/
18 entrevistas _ revista caros amigos
da oposição, mas elas existem. O Congresso é imprescindível, evidentemente, para a democracia. Os partidos políticos já são outro problema. Porque, sem fidelidade, financiamento público, cláusulas de barreira, verticalização, fim de coligação proporcional, os partidos não vão se consolidar e se fortalecer no Brasil. E há muitas resistências, tanto do PSB, PPS, PDT, PCdoB, ainda que o PSB, o PPS e o PDT tenham mudado de atitude. O PFL, o PSDB e o PT sempre foram mais favoráveis a uma reforma política. O PP, o PL e o PTB se opõem a qualquer tipo de reforma e as bancadas evangélicas também. De qualquer maneira, o Brasil tem três ou quatro partidos bastante representativos. JOÃO DE BARROS - Você diz que o Congresso representa o povo brasileiro, mas não acha que o poder econômico desfigura um pouco essa representação legislativa? O poder econômico não desfigura porque representa o que é a sociedade. O problema é como, numa sociedade onde o poder econômico está muito concentrado, você abre espaços na institucionalidade para permitir que as forças políticas populares se expressem. No Brasil, existe isso. Existem a CUT, a Contag, o MST, a Central de Movimentos Populares, ONGs, temos aí pelo menos 25 anos de acúmulo de forças. Porque foi interrompido em 1964 o acúmulo que existia desde 1946, como foi interrompido em 1937 um acúmulo que existia desde 1922. Teve um desenlace em 1930, uma Constituinte em 1934, um golpe de Estado em 1937 e, em 1946, a redemocratização, que foi abortada com a vitória do Dutra e com a ilegalização do PCB. O Brasil, portanto, tem uma história política em que as forças sociais das classes populares, das classes trabalhadoras, conseguiram se organizar razoavelmente. O que não temos no país, e acho que um pouco por erro nosso, é que tanto os sindicatos como o Movimento Sem Terra,
O poder econômico não desfigura porque representa o que é a sociedade. O problema é como, numa sociedade onde o poder econômico está muito concentrado, você abre espaços na institucionalidade para permitir que as forças políticas populares se expressem. como a Contag poderiam ter mais poder econômico se tivessem desenvolvido mais formas de organização cooperativa, bancos, se tivessem desenvolvido instrumentos de poder econômico. Alguns anos atrás, eu via no Movimento Sem Terra uma variante, um lado de cooperativas, de agroindústrias, que podia ter evoluído, como na Europa evoluiu, para combinar o poder sindical e o poder político que todas as forças sociais e empresariais da sociedade têm. Ou se expressam através dos partidos, de parlamentares, ou através de instrumentos de comunicação. Nós não temos instrumentos de comunicação, disputamos espaço na grande mídia. Cada vez menos. Porque cada vez menos são respeitados os manuais de redação, são respeitados o outro lado e o direito de resposta e, principalmente, que é necessário ter provas, pelo menos ter o devido processo e julgamento para acusar ou julgar alguém. Nesse episódio que estamos vendo agora, houve um agravamento muito grande, por parte da mídia em geral, de prejulgamento, linchamento político e denuncismo. Eles dizem que não, vão bater no peito e na mesa dizendo que não, que eles dão direito de resposta, que você pode dar entrevista, pode falar, mas não é bem assim. Acho que o país vai, passados os anos, poder avaliar essa fase que estamos vivendo e vai ver que ela foi bem macartista. Vai acabar se transformando numa mancha na
história da imprensa brasileira. Como sempre falo do período em que uma parte importante da imprensa apoiou a repressão, apoiou o DOI-Codi, dava cobertura para os desaparecimentos políticos, dava cobertura para a tortura. Depois, toda a imprensa se opôs à censura, à tortura, à ditadura, mas houve um momento em que deu cobertura a isso, pelo menos parte importante da imprensa. Então, voltando, faço uma avaliação positiva do Congresso Nacional, não sou daqueles que fazem uma avaliação negativa. MARINA AMARAL - Você não diria, como certa vez disse o presidente Lula, que há 300 picaretas no Congresso? Veja bem. Tem deputado que pega verba indenizatória e desvia essa verba, então tem de ser punido. Agora, não pode negar que deputado tem de ter direito a um gabinete em Brasília com secretária, assessoria, administração, que tenha de ter no Estado dele também condições e estrutura para trabalhar e um salário que viabilize a função dele, que é pública. Se você tomar os salários que existem no Poder Judiciário e no Executivo, vai ver que o deputado tem que ganhar um salário, no mínimo, esse que ganha hoje, que é bruto, 12.700 reais. Há uma crítica à verba de 18 mil reais que o deputado pode gastar no Estado. Aí se cai na hipocrisia. Proibiram automóvel para deputado, mas ele pode lançar despesa de motorista, que é funcionário dele, pode lançar despesas de aluguel de carro e de combustível. Portanto... MARINA AMARAL - Mas a picaretice seria menos com esses detalhes e mais com a questão do lobby... Lobby. Todos os deputados representam interesses. Uns representam os interesses do capital financeiro, outros do industrial, outros do agrário, outros dos contribuintes, outros dos idosos, outros das mulheres, outros dos sindica-
\291_
#18_ Zé Dirceu
tos, outros do Movimento Sem Terra, outros representam os ecologistas... O que precisa é ficar transparente. No Brasil, precisamos começar a ter clareza. Primeiro, que a democracia tem um preço. Custa 1 milhão de reais o financiamento público de campanha, quando custa 200 milhões de reais o fundo partidário. Como a eleição, parece que o referendo custou 400 milhões de reais, não me lembro. Exercer a democracia e exercer o controle social tem um preço. O lobby no Brasil precisa ser legalizado. Agora nessa crise, muitas vezes conversei com estrangeiros e eles não conseguiam entender por que está havendo tanta denúncia por causa de lobby. Lobby tem que existir, mas precisa ter transparência. Porque uma coisa é lobby e outra coisa é corrupção. Uma coisa é lobby e outra coisa é o desvio do lobista. Brasília é uma cidade com escritórios de lobby de todo tipo. MARCELO SALLES - Mas há como estabelecer uma fronteira rígida entre o lobby e o Congresso? Não, lobby é lobby. Porque uma coisa é você receber uma comissão para dar consultoria, assessoria ou fazer trâmites burocráticos, como se fosse o despachante, em um projeto que está no Congresso ou uma demanda que você tem no governo. Mas você pode legalizar isso. Por que não legaliza? Nos Estados Unidos, está legalizado. Lobby tem que ter endereço, tem que fazer prestação de contas, declarar um custo, ser transparente: quem está cuidando, quem é o deputado. E o deputado que cuida não pode depois receber doação desse grupo. Declara e depois não recebe doação. Pode pôr isso na lei. Ou põe financiamento público e proíbe. Não tem problema legal nem problema de organizar isso. É só querer. Dá para organizar a legalidade e o funcionamento de lobby, como dá para organizar a legalidade e o funcionamento do sistema eleitoral que diminua a corrupção, diminua a influência do poder econômico. Mas acho que o Congresso só melhorou;
_292/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Exercer a democracia e exercer o controle social tem um preço. O lobby no Brasil precisa ser legalizado. Muitas vezes conversei com estrangeiros e eles não conseguiam entender por que está havendo tanta denúncia por causa de lobby. Lobby tem que existir, mas precisa ter transparência. piorou na qualidade dos parlamentares, mas isso porque o sistema político brasileiro não se autorreformou, não fez a reforma política nem a reforma administrativa. MARINA AMARAL - Por que vocês não fizeram a reforma política e a administrativa? Foi um erro nosso. Mas havia obstáculos. Primeiro, talvez não se conseguisse maioria, mas não vou nem por aí. Porque estávamos totalmente soterrados com a crise econômica, com o risco de a economia se desorganizar com uma hiperinflação no início do governo. Tínhamos um problema gravíssimo de fazer a reforma tributária e a previdenciária, era uma demanda, se bem que o problema da Previdência continua grave. Não adianta dizer que tem dinheiro para pagar a Previdência porque tem a seguridade social. Não é esse o problema. O problema é que a Previdência custa 100 e arrecada 70. Você não pode ter um déficit de 30, 40 bilhões da Previdência. Pode ter, mas tem que pagar e, se pagar, você não pode fazer superávit, e não tem dinheiro nem para investimentos sociais nem para infraestrutura. Então, não fizemos muito por causa das outras prioridades: segurar a crise econômica, dar governabilidade, reformar a máquina administrativa, fazer a reforma tributária e a previdenciária. Foram essas as prioridades.
JOÃO DE BARROS - Você podia esclarecer qual foi a “herança maldita” que vocês receberam? Em primeiro lugar, a desorganização da economia. Era real que o país estava correndo o risco de ter situação semelhante à da Argentina. Um risco altíssimo, com inflação alta, o juro não estava baixo, e o país muito debilitado nas contas externas. Não tinha planejamento, não tinha controle de execução, o governo tinha parado de funcionar. Os programas sociais eram uma piada. Eles fazem propaganda. O Fernando Henrique fala com o maior descaro, o maior cinismo que o que o Lula fez é continuidade do Programa Comunidade Solidária. O programa dele era o seguinte: deu um para o Serra, um para o Paulo Renato, um para o PMDB e um para o PFL – vale-gás, vale-alimentação, bolsa-escola e bolsa-renda. Porque deu para o Serra, o Paulo Renato protestou, o PFL protestou, o PMDB protestou. Quatro cadastros, quatro cartões. O Bolsa Família é um salto. Primeiro, que tem um cadastro que vai atingir 11 milhões de famílias – já está em mais de 8,5 milhões. Segundo, porque tem programa para geração de emprego e renda por trás. E programa de alfabetização, de combate à seca, de apoio à agricultura familiar, de reforma agrária, programa sanitário, de prevenção à saúde. Lógico que você precisa de mais recursos e de três, quatro, sete anos para sair de 10 a 15 por cento da população atingida por esse programa para chegar a 50, 60 por cento. E também recebemos o apagão. Tínhamos de reorganizar o setor energético do país, essa é outra herança. A dívida interna, dez vezes mais do que a que o Fernando Henrique recebeu. A dívida externa dobrada. Os encargos da dívida interna e externa. E fora que o Fernando Henrique não fez ajuste fiscal nos quatro anos de governo dele e nos outros quatro fez de 3,75. O governo Fernando Henrique foi julgado nas eleições. E a questão de fazer devassa no governo anterior, primeiro você precisa ter maioria no Congresso. Nós não temos. Maioria
para governar nós temos, mas para aprovar projetos não, como, por exemplo, imposto sobre herança e doação – perdemos de lavada. Qualquer projeto de caráter de esquerda, seja no campo da moral e do comportamento, seja no campo social, seja no da economia, você não passa de 120 votos na Câmara e de 23, 24 no Senado. Porque aí vira classe contra classe, política de esquerda e direita. Temos sempre que lembrar que o Lula foi eleito presidente da República com quase três vezes mais votos que o PT. O PT tinha 91 deputados e 14 senadores – hoje tem 84 e 13. Se você olhar por dentro, vai ver que não há uma unidade no PT para toda a política do governo. Em muitos aspectos, o PT se dividiu quando teve de enfrentar votações importantes para o governo NATALIA VIANA - E levantar denúncia precisa da maioria no Congresso? Mas para fazer CPI precisa. Está tudo no Ministério Público, na Justiça, não tem nada do governo Fernando Henrique Cardoso de denúncias importantes que não esteja sendo investigado pelo Ministério Público e pela Justiça. Eu que cunhei a expressão “herança maldita”. Muita gente me puxou a orelha. E aí começaram meus problemas com o PSDB e com o PFL. Se o governo fosse fazer uma devassa nos períodos do Fernando Henrique Cardoso, tinha de optar por outra estratégia. Se fosse outro programa, se o governo falasse vou ser minoria, vou mobilizar a sociedade, vou fazer o enfrentamento. Só precisava saber se ele durava seis, oito meses ou um ano. MARINA AMARAL - Uma coisa que nunca foi bem explicada é como o PT perdeu a presidência da Câmara e a importância da atuação do PSDB na eleição do Severino Cavalcanti. O PT perdeu a presidência da Câmara porque se dividiu. A vida é assim, a gente comete erros na vida pessoal, familiar, profissional e na política também.
\293_
#18_ Zé Dirceu
MARINA AMARAL - Foi o Lula que escolheu o Greenhalgh? Não, o Lula não chegou a ter uma posição clara se era Virgílio Guimarães ou era Luiz Eduardo Greenhalgh. O problema vem de antes, quando o João Paulo Cunha propõe a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu apoiei, o presidente apoiou, nós achávamos que era o melhor para o governo, para o país, mas é uma hipocrisia... Porque, por exemplo, o Renan e o Aldo podem ser reeleitos. De uma legislatura para outra, pode ser reeleito. É um casuísmo. Essa medida de que o presidente da Câmara não pode ser reeleito é de mentira, porque pode se passar de uma legislatura para outra, então o ano que vem, se tiver maioria no Senado, reelege o Renan, se tiver maioria na Câmara, reelege o Aldo, mas dentro da legislatura não pode. Então, percebe-se que o problema não é que não pode reeleger, o problema é que é uma falha do sistema. Bem, o PT perdeu. Quem deu condições para o Severino Cavalcanti ir para o segundo turno foi o PSDB, foi participação direta do Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabe. O Geraldo Alckmin participou, Aécio Neves participou, todos eles participaram. Eles são os responsáveis... Lógico, nós temos responsabilidade à medida que o PT se dividiu, a bancada escolheu o Luiz Eduardo Greenhalgh. A base aliada tinha dificuldade de aceitar o Luiz Eduardo Greenhalgh, isso estava claro. Pelas qualidades dele, não pelos defeitos. E deu no que deu. Infelizmente, a direita... Agora, diz que não pode mais falar direita. Vi uma crítica aí dizendo que o Lula voltou à fase ideológica por falar em oposição de direita no país... A hipocrisia da mídia brasileira é um negócio inacreditável. JOÃO DE BARROS - Voltando um pouquinho, quem, no início do governo, deu o norte? “Vamos apostar no Congresso, deixar a base social de lado para poder governar”...
_294/
18 entrevistas _ revista caros amigos
Não é verdade que o governo do Lula deixou a base social de lado. Ao contrário, inaugurou as conferências na área de saúde, educação, meio ambiente, quase todos, mulher, negro, índio, pesca... Mobilizou as organizações sociais e populares, as ONGs e as principais frentes no país todo. JOÃO DE BARROS - O movimento de massas está em refluxo. Está. Mas não por causa do governo Lula. É outro problema. Movimento de massa é uma coisa. Você está falando de mobilização de massa para sustentar e apoiar o governo. Isso, o governo não fez, eu critico o governo, acho que foi um erro. Mas ele abriu para as organizações sociais, para o movimento social e popular uma participação no governo, na vida política do país que não existia. Descriminalizou os movimentos, tirou a repressão, abriu o diálogo, negociações, inclusive servidores públicos que não eram nem reconhecidos, nem sentavam à mesa. A minha avaliação é que, com exceções, os movimentos não deram a devida importância e não aproveitaram isso na medida do possível. Então, acho que é um governo participativo nesse sentido. O que não fizemos foi, através do PT e de uma frente de partidos, mobilizar a sociedade para uma agenda, para uma pauta e fazer a disputa política com a direita. Isso foi erro nosso e estamos pagando por isso. Mas essa foi a decisão tomada depois... Não foi a minha posição. Quando saí, propus que se mobilizasse o PT, os partidos, para defender o governo. A decisão do PT e do governo foi contra a minha posição. Inclusive, a direita impôs um veto a partir da acusação de chavismo para que não houvesse mobilização na crise, que eles conteriam a crise. Mas não contiveram, levaram a crise às últimas consequências. Nem a não mobilização social, nem os acordos feitos não sei por quem, nem por ordem de quem, nas CPIs para aprovar aqueles relatórios e propor cassação dos 18 de-
putados, os acordos para preservar o PSDB e o Eduardo Azeredo serviram para nada. Dei uma entrevista à revista Fórum e estão explorando porque falei que o governo acabou: lógico que o governo não acabou, não falei nesse sentido, é que não pouparam ninguém, eles continuaram investigando, colocaram o filho do Lula, o irmão do Lula, a família do Lula, os amigos do Lula, o Paulo Okamoto, o Luís Gushiken, Gilberto Carvalho, Antônio Palocci, Duda Mendonça. Tudo o que está próximo à imagem, à história do Lula eles procuraram envolver em denúncias, em investigações e carimbar. NATALIA VIANA - Mas houve uma tentativa de acordo para que isso não acontecesse? Dizem que houve, tudo indica que houve. MARINA AMARAL - O que é um acordo Caracu? Você falou isso nessa entrevista da Fórum, não entendi... É um acordo para cassar os 18 deputados e parar a crise, para não ter mobilização social e não ter impeachment. MARINA AMARAL - Mas por que Caracu? Porque alguém entra com a cara e o outro com o cu... É uma expressão popular que se usa. NATALIA VIANA - Mas esse acordo foi selado? Aí você tem que investigar, perguntar para os participantes... NATALIA VIANA - Estou perguntando para quem conhece. Quem sou eu? Sou um zé-ninguém, sem nada... JOÃO DE BARROS - Presumo ter havido algum tipo de consentimento do presidente Lula. Como vai fazer um grande acordo sem isso? Não acredito, isso é coisa do Congresso, é dinâmica do momento, estava todo mundo desesta-
Dei uma entrevista à revista Fórum e estão explorando porque falei que o governo acabou: lógico que o governo não acabou, não falei nesse sentido, é que não pouparam ninguém, eles continuaram investigando, colocaram o filho do Lula, o irmão do Lula, a família do Lula, os amigos do Lula... bilizado, dividido, perplexo, não estou culpando, não estou cobrando, estou só constatando que a não mobilização foi um erro. Agora, pode ser que não houvesse condições para fazer mobilização, porque o PT estava sem direção, uma direção transitória, o partido estava muito revoltado, perplexo, as bases do partido careciam de informações... Até o partido se reorganizar, em 18 de setembro, e fazer a primeira nota, quando o (José) Genoino renunciou, passou julho e agosto e metade de setembro. Nesse período todo, a direita fez uma política de caracterizar o governo como corrupto e ligado ao crime, que organizou um sistema de corrupção, o que não é verdade. Que esse jogo que parte da mídia e a direita fazem, de Santo André, Campinas, do assassinato de Celso Daniel, do Toninho, é para deixar na opinião pública, na sociedade, uma imagem de que o PT, além de tudo, é um partido que tem crimes não esclarecidos. Daqui a pouquinho, o PT, que foi vítima, vira responsável por esses crimes. MARINA AMARAL - Essa coisa da mídia é engraçada, outro dia eu estava relendo o livro do Mário Sérgio Conti, Notícias do Planalto, lembrando como foi o impeachment do Collor, e tem uma passagem dizendo que você ajudou a Veja a conseguir certas informações. A história está contada pela metade. Porque eu tinha informações e a Veja tinha. Do jeito
\295_
#18_ Zé Dirceu
que apareceu, só ela tinha informações e eu servi como instrumento. Não era bem assim. Eu tinha tanta informação quanto a Veja porque tinha ido a Canapi, a Maceió, tinha feito a investigação da LBA, eu e Suplicy é que tínhamos tido acesso ao Pedro Collor... A Veja contou o lado dela. Aliás, uma coisa “inédita”, né? A falta de ética da imprensa é tão grande que toda a sua justificativa ética é que existe o direito constitucional de que a fonte está protegida pela confidência, pelo sigilo. No entanto, quando interessa para eles vender ou atacar a honra de alguém, eles vazam a fonte e dão a versão que querem. Apresentam a fonte, que era sigilosa, como alguém que fez por mesquinharia, ou para lavar uma informação, ou foi instrumento de uma operação fantástica da Veja. O que revela um pouco o caráter das pessoas que contaram isso nos seus livros e nas entrevistas, mostra o nível moral do meio, que tem um lado podre, evidentemente. JOÃO DE BARROS - Você já sabia que a imprensa era assim. Só estou fazendo uma constatação aqui porque fiquei indignado na época em que vazaram essas informações. Não tenho como me defender, não tenho gravação, não tenho testemunha, nem os documentos mais na minha mão para provar que tinha tantas informações quanto a Veja. Então, fica a versão da Veja. MARINA AMARAL - Quando você fala setores da imprensa, se refere a toda a grande imprensa? Estado, Folha... A imprensa tem altos e baixos, momentos de grandeza, momentos de queda, momentos de liberdade, momentos de censura. Agora, por exemplo, está começando a querer censurar. Quando o Diogo Mainardi escreve aquela coluna dele, como Tales Alvarenga escreveu também, eles estão censurando. Estão ameaçando quem rema con-
_296/
18 entrevistas _ revista caros amigos
tra a corrente e expressa opinião sobre os fatos que não é a opinião dos proprietários e donos de redação e donos de coluna, que a elite da imprensa resolveu dizer que é a verdade, que é a única leitura que pode ter para essa crise. A direita tem uma leitura para a crise, eu tenho outra. Por exemplo, ela tem uma leitura para a crise de que é o governo mais corrupto do país, de que foi descoberto um esquema de corrupção e que é só isso. Eu faço a leitura que há denúncias de corrupção na administração pública federal, que a direita instrumentalizou CPIs para transformar isso na maior história de corrupção do país, o que não é verdade, para esconder o caixa dois deles, porque eles nunca deixaram investigar, nem corrupção nem caixa dois, e para desestabilizar o governo, sangrar, fazer um impeachment, nos derrotar em 2006. Surgiram os dedo-duros, igual da época da ditadura, que dedavam as pessoas para serem torturadas e assassinadas, que é o Diogo Mainardi e esse outro cidadão, para dedar tal jornalista de tal redação, macartismo puro, e eles ainda dizem que não estamos numa fase de macartismo e denuncismo. Até os próprios colegas eles estão tentando colocar sob suspeição, quase dizendo “demitam, demitam”. E houve um momento em que pressionaram para a demissão de vários jornalistas que estavam numa postura mais neutra, mais objetiva. MARINA AMARAL - Qual você considera a principal distorção que a mídia fez no seu caso específico. Ah, eu não tenho saco para isso, não, gente, pelo amor de Deus! Não vou falar sobre isso, não. JOÃO DE BARROS - Nessa crise toda, você não acha que foi vítima do seu próprio perfil, de ser assim uma eminência parda do governo Lula, uma espécie de Golbery, não falava com a imprensa, tratava os negócios de governo só intramuros?
Fiquei indignado na época em que vazaram essas informações. Não tenho como me defender, não tenho gravação, não tenho testemunha, nem os documentos mais na minha mão para provar que tinha tantas informações quanto a Veja. Então, fica a versão da Veja.
Nunca fui eminência parda. Na minha vida, todos os cargos que ocupei foram por eleição direta. Centro acadêmico, UEE, UNE era um congresso indireto, que caiu, mas a margem de eu ser eleito ali era grande. Fui eleito presidente do PT três vezes indireto, instituímos eleição direta, fui eleito por eleição direta. Deputado estadual, três vezes federal, até quando clandestino, sempre o que eu fazia era com transparência, nunca fui eminência parda. NATALIA VIANA - Mas no governo... Não era eminência parda, eu era ministro. Ministro-chefe da Casa Civil. JOÃO DE BARROS - Mas era do chamado núcleo duro... Isso é outra coisa, é coordenação de governo, quem pôs o nome de núcleo duro foi a mídia, como a mídia uma época começou a dizer que eu era sombra. Comecei a protestar, pararam de falar. Como sou sombra se sou público? A Casa Civil, em qualquer governo, tem os poderes que eu tinha. No governo do Fernando Henrique, no governo do Sarney. A Casa Civil é a secretaria-executiva da Presidência da República. Mas havia interesse em me transformar num todo-po-
deroso, no segundo homem da República, num primeiro-ministro – coisa que nunca fui porque estamos no presidencialismo, tanto é que o presidente me demitiu – por razões políticas, para atacar as posições que eu apresentava. A palavra de ordem é atacar a cidadela à esquerda no governo. Quem é a cidadela à esquerda no governo, com todas as limitações que eu tinha? Enquanto estivesse no governo, eu podia debater, propor, divergir, mas, quando o presidente decidia, eu tinha que defender, tanto no Congresso quanto na sociedade, quanto no PT, quanto na bancada. Acho que houve sempre o objetivo de me tirar do governo. Tanto é que a crise do Waldomiro Diniz é uma crise de mentira! Forjada! MARINA AMARAL - Interesse de quem? PSDB e PFL. MARCELO SALLES - Você foi traído pelo Waldomiro? Não, que traído pelo Waldomiro! Waldomiro fez isso no Rio, não foi no governo do Lula. Fez e está pagando pelo que fez. Esse negócio de traído é conversa. MARINA AMARAL - Mas por que o PSDB e o PFL atacarem você? Se for interesse eleitoral, não seria mais interessante atacarem o próprio Lula? Eles atacaram o Lula. O que eles fizeram agora nesses seis meses não tem paralelo na história do Brasil. Atacaram para tentar derrubar. Só não derrubaram porque não tiveram força, o objetivo deles era derrubar o governo. MARINA AMARAL - E você acha que eles não tiveram força por quê? Por causa da força do PT, por causa da popularidade do Lula, por causa do apoio popular, porque é o melhor governo que o Brasil teve desde 1985, porque o país melhorou muito e tem mais con-
\297_
#18_ Zé Dirceu
dições de se desenvolver, porque, bem ou mal, o governo tem maioria na Câmara. Não tem mais no Senado porque eles se dividiram com relação à estratégia, porque o PFL estava mais radicalizado e o PSDB estava mais indeciso, eles acham que ganham a eleição de 2006... Agora, eles atacaram o Lula, sim, e me atacaram sempre, inclusive fizeram coisas inomináveis: fui convidado a Campos do Jordão para participar de um fórum interamericano, com intelectuais, jornalistas, empresários, estavam lá os proprietários dos jornais brasileiros. Ao meu lado, estava o Cisneros, e o Roberto Civita estava na mesa quando fiz minha fala. Não é feita anotação, ninguém pode fazer anotação, não é secretariado, nada é divulgado. E tem grandes escritores, o Carlos Fuentes estava presente, tinha personalidades do mundo todo ibero-americano. A minha fala virou manchete nos jornais depois! Porque falei do poder militar, falei da América do Sul, da integração, do papel do poder militar no poder nacional. Falei da integração dos exércitos na América do Sul. Tratei temas em perspectiva que fazem parte de uma estratégia de um projeto de desenvolvimento nacional. Porque não fomos eleitos só para estabilizar a economia e fazer o país crescer. Fomos eleitos para transformar, fazer mudanças sociais importantes no Brasil e resgatar o projeto de desenvolvimento nacional. Enfim, houve sempre uma marcação homem a homem comigo. MARINA AMARAL - É o oposto do que acontece com o Palocci? Porque com ele parece que atacam e em seguida recuam, todo o tempo. Não é verdade. O que eles estão fazendo com o Palocci é igual ou pior do que fizeram comigo. As denúncias que eles requentaram dessa Leão Leão é de um inquérito que tem em São Paulo há dois, três anos, do Ministério Público, que envolve cinco prefeituras, quatro do PSDB e ninguém fala nisso. O Rogério Buratti fez declarações, foi preso, algemado, colocado em uni-
_298/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O PMDB está no governo, o problema é que ele é dividido em três: um terço é Garotinho; um terço é Fernando Henrique; e um terço ou metade apoiando o governo do Lula. O PT não conseguiu fazer aliança com o PMDB no final de 2002. No final de 2004, início de 2005, defendi, propus, trabalhei e não foi possível. Acho que foi um erro grave. forme amarelo... Como é que alguém que é réu primário, não está condenado, é preso e algemado, de uniforme amarelo, é chamado para fazer delação premiada? É mais extorsão premiada do que delação premiada. E o Rogério passou a fazer declarações contra o Palocci. As outras denúncias, Cuba, Angola... E iniciaram um processo de desestabilização, de sangramento e de derrubada do Palocci igual fizeram comigo e com o Lula também. MARINA AMARAL - Os jornais divulgaram muito que houve um acordo entre governo e oposição para manter o Palocci. Quem não demitiu o Palocci foi o presidente, e o Palocci não pediu demissão. Apesar, inclusive, das divergências que surgiram dentro do governo sobre o ajuste fiscal e a política de juros. E a execução do Orçamento de 2005. Divergências de concepções que é evidente que existem e que a ministra Dilma acabou expressando. Eles não tiraram o Palocci porque não tiveram força, não é que eles não querem tirar. Não sei se houve acordo porque eu não estava participando, eram as últimas semanas da minha defesa e estava totalmente concentrado nela.
NATALIA VIANA - O PT admitiu publicamente o dois. Não dá para fazer campanha sem caixa dois? Dá. É só você conseguir doação legal e reduzir os custos. Tem que proibir showmício, botton, camiseta. Mas o Congresso não quer aprovar isso. Estão lá os projetos, mas eles não aprovam. O PT, efetivamente, vai reduzir a partir de 2006 os gastos de campanha e fazer caixa um. Quero saber dos outros, o que eles vão fazer. MARINA AMARAL - E nos acordos políticos que você negociou primeiro com o PL nas eleições, depois com o PP e o PTB no Congresso, houve alguma negociação financeira? Não se falou em recursos, foram acordos políticos. O Delúbio é que fez negociações financeiras para a campanha eleitoral de 2004, para as dívidas de 2002 com o PMDB, PL, PP e PTB. O PT fez acordos eleitorais com eles e eu não participei desses acordos. MARINA AMARAL - Na negociação com o PP e o PTB para obter a maioria no Congresso não entraram recursos? Não. Só entraram recursos nas negociações eleitorais e eu não participei de campanha eleitoral. JOÃO DE BARROS - Por que a opção de fazer acordo com o PP e o PTB, partidos fisiológicos? MARCELO SALLES - Por que não se fechou acordo com o PMDB? O PMDB está no governo, o problema é que ele é dividido em três: um terço é Garotinho, um terço é Fernando Henrique e um terço ou metade apoiando o governo do Lula. O PT não conseguiu fazer aliança com o PMDB no final de 2002. No final de 2004, início de 2005, defendi, propus, trabalhei e não foi possível. Acho que foi um erro grave. Mas, mesmo assim, precisava de acordo pelo menos com o PTB e o PL para formar maioria de 308 para aprovar reformas ou 257 para ou-
tras votações. O PDT não quis vir. Fizemos acordo com o PP e o PTB, porque são os partidos que existem no Brasil. O PSDB e o PFL são oposição, o governo Lula vai governar com quem? NATALIA VIANA - Como vocês dizem que a crise política é provocada pela direita se vocês são aliados da direita? Não estamos aliados com a direita. O PFL e o PSDB têm hegemonia, dirigem o processo político, governam o Brasil. Pela primeira vez não estão governando o Brasil. O PL e o PTB não governam o Brasil, não têm hegemonia no processo, não têm programa, não têm ideologia. São partidos menores. NATALIA VIANA - Não são de direita? Sim, mas são partidos menores. Apoiaram nosso governo e não tivemos que abrir mão de nada do nosso programa para obter esse apoio. Não paramos de lutar pelo que lutávamos por causa deles. Eles são contra muitas das diretrizes do governo. Estão votando contra nós em várias questões. MARCELO SALLES - Como foi a indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central? Isso aí não tem nada a ver com o PL e o PTB, nada. MARCELO SALLES - Mas como foi que o PT... Não quero falar sobre isso. JOÃO DE BARROS - Por quê? Não quero falar sobre isso. JOÃO DE BARROS - Você não pode esclarecer para a gente por que o Henrique Meirelles? Não, não posso. Foi uma decisão do Lula. MARINA AMARAL - Mas sempre se disse que o governo Lula não faz um governo de esquerda porque fez alianças...
\299_
#18_ Zé Dirceu
O governo Lula faz um governo de centro-esquerda porque as condições do Brasil não permitem fazer um governo só de esquerda. Muito menos de extrema esquerda. Agora, é só a direita voltar para o governo, vocês vão lembrar que o governo do Lula era um governo de esquerda. Deixa só acontecer e vocês vão ver. MARINA AMARAL - O Lula é de esquerda? O Lula é de esquerda. MARINA AMARAL - Quais eram as divergências políticas entre vocês dois? Nunca tive grandes divergências políticas com o Lula. Como poderíamos ter divergências se construímos em dez anos, o Lula, eu e dezenas de dirigentes, toda a política que levou o Lula ao governo? Podemos ter divergências aqui e ali, mas evidente que concordávamos em termos gerais, senão não teríamos chegado aonde chegamos. MARINA AMARAL - Então eram divergências pessoais? Por que o senhor disse que ele era um personagem difícil na entrevista à revista Fórum? Se você lê a entrevista entende o que eu falei, mas a imprensa tirou a declaração do contexto da entrevista. Assim como eles disseram que eu falei que o governo acabou, usando uma frase tirada do contexto. Evidente que não falei que o governo acabou. Eu estava dizendo que eles imobilizaram o núcleo do governo todo. O Gushiken não é mais da Secom, o Palocci é ministro da Fazenda, mas vai depor na CPI dos Bingos. Fizeram o que fizeram com o Gilberto Carvalho, me tiraram do governo... MARINA AMARAL - E a política econômica do governo é do Lula e do Palocci? Não, é do governo. Marina Amaral - Mas como do governo, se o
_300/
18 entrevistas _ revista caros amigos
vice-presidente é contra, a ministra da Casa Civil é contra... Não interessa. É do governo e quem está no governo tem que defender. É presidencialismo, gente. O governo decidiu uma política e ela tem de ser aplicada e defendida por todos os ministros. NATALIA VIANA - E você acha que essa política foi acertada? Sempre coloquei que a política de estabilização é necessária, o combate à inflação, porque, para além da política de juros e da política de superávit, tínhamos que fazer política industrial, de inovação, de desenvolvimento. Dada uma decisão do presidente de que a política fiscal, de juro, é essa, o conjunto do governo tinha que mobilizar as forças políticas e econômicas da sociedade em torno de um projeto de desenvolvimento nacional. Foi para isso que eu trabalhei. MARINA AMARAL - Agora que vai se dedicar a dar palestras, o que você pretende falar? Vou falar sobre o Brasil, sobre o governo do Lula, sobre a esquerda, sobre a crise política. Posso falar de reforma universitária, de reforma política, da infraestrutura brasileira, do biodiesel, da Amazônia, de déficit público, superávit, estabilidade e desenvolvimento, reforma administrativa, gestão de recursos humanos. Tenho um portfólio e uma série de palestras organizadas que vou atualizando conforme a disputa política. A natureza do governo do Lula é diferente da natureza do governo Fernando Henrique. Se vocês não entenderem isso, não estão entendendo nada e grande parte da esquerda brasileira não entendeu isso. NATALIA VIANA - Então explica. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a esquerda ou a ultraesquerda criticar o governo Lula. Tem todo o direito, manifestação, passeata, protesto, tudo isso. Não compreender que é um
governo que tem que ser sustentado, apoiado e disputado é jogar fora uma oportunidade histórica única. Quando a direita voltar para o governo, todo mundo vai ver a diferença. Acho que devemos ter clareza de que a natureza do governo é diferente. Retomar os bancos públicos como bancos de fomento não é pouca coisa, estavam todos preparados para ser privatizados. Parar as privatizações não é pouca coisa. Reorganizar o aparelho do Estado para ter planejamento, dar à política social o caráter de política pública, não de caridade, e começar a transformar em cidadania; retomar a consolidação do SUS, que estava em disputa, e as mudanças que estão sendo feitas na educação é muita coisa. Retomar os investimentos na infraestrutura, que estava sucateada e ainda não foi reorganizada. A ferroviária vai ser, o capital privado vai reorganizar. A portuária também. A rodoviária depende do governo e tem vários gargalos ambientais, burocrático-administrativos, de controle, mas retomou. O setor de energia elétrica nós saneamos, recuperamos empresas, inclusive, devolvemos às empresas públicas o papel delas, construímos quatro mil quilômetros de linhas de transmissão, seis mil megawatts de energia por ano. Retomar o programa alternativo, de biodiesel, de energia eólica, de pequenas hidrelétricas, é um programa grande. Os avanços que estamos conseguindo fazer na agricultura familiar, dar ao país uma política econômica confiável, com todas as restrições que podemos ter, com todas as divergências. O governo retomou uma ideia que é fundamental não só para termos presença no mundo, mas para nos desenvolvermos, que é a integração da América do Sul. O Brasil não será um país desenvolvido se não integrar a América do Sul no desenvolvimento dele e ele não se integrar na América do Sul. Nem terá força e expressão política no mundo sem uma comunidade das nações sul-americanas. A presença do Lula no mundo é fantástica. O país voltou a ter uma política externa do Esta-
O que o Lula está fazendo é o que dá para fazer no mundo de hoje. Imagine o que o mundo de hoje é! E termos um governo progressista em um país do tamanho do Brasil, que é uma das dez maiores economias do mundo! A gente tem que tentar preservar isso, porque é uma oportunidade. do, não do governo Lula, do Estado! Lógico que a política de segurança pública podia avançar mais, a reforma agrária poderia avançar mais, podíamos ter mais investimento em infraestrutura, podíamos ter tido uma política na área do desenvolvimento industrial bem mais avançada. Mas aí são as limitações. O presidente fez uma opção por uma política econômica que coloca restrições para o investimento público, aumentaram os investimentos, aumentou o financiamento público, mas tem restrições. Mesmo assim “quem olha só para a árvore não vê a floresta”. É um erro gravíssimo não fazê-lo e salta à vista dos visitantes da esquerda europeia. Eles ficam estarrecidos com o comportamento de certos setores da esquerda brasileira contra o governo. Eu não consigo entender. O que o Lula está fazendo é o que dá para fazer no mundo de hoje. Imagine o que o mundo de hoje é! E termos um governo progressista em um país do tamanho do Brasil, que é uma das dez maiores economias do mundo! A gente tem que tentar preservar isso, porque é uma oportunidade. Como cometemos grandes erros, grandes, também aceito que possam ter sido cometidos erros do lado da esquerda, da ultraesquerda para não compreender o governo. Não estou fazendo avaliação moral. Mas acho que precisa entender. Vale a pena reeleger o Lula e vale a pena dar continuidade a esse projeto. Tem que fazer uma repactuação porque tem que discutir
\301_
#18_ Zé Dirceu
com transparência e abertura as limitações que foram impostas pela política econômica ao desenvolvimento do país. Como combinar estabilidade e desenvolvimento, como ter uma política de controle inflacionário e de administração da dívida pública, mas que viabilize o dobro de investimentos que o país tem hoje. E como podemos fazer uma gerência do Orçamento que não seja essa gerência burra, linear – que os cortes são isso. Nós falamos que não íamos fazer isso e fizemos. NATALIA VIANA - Uma das maiores críticas do pessoal mais à esquerda é essa não opção pela mobilização social. Você mesmo falou: “Estamos fazendo o que dá para fazer”. Continua apostando nesse caminho? Não, acho que temos de rever isso. A política de alianças tem de ser reavaliada. Essa questão do PMDB tem de ser rediscutida. É difícil, porque o PMDB, de novo, está tendendo a ter uma candidatura própria, com Garotinho, outra que fica com o PSDB e outra com o PT. Temos de reavaliar também a relação entre o governo e o PT, a redistribuição dos dirigentes no PT e no governo, precisa fortalecer o PT, e temos que reavaliar essa coisa da estabilidade e desenvolvimento e social-institucional. Precisa mais mobilização, mais debate, mais discussão política no país, porque há uma tentativa de cercear o debate, a discussão e a mobilização. A mídia trabalha com o fantasma do chavismo. Mas, quando ela e a direita se uniram, fizeram o que a oposição do Chávez faz com o Chávez. Fizeram o mesmo aqui no Brasil com o Lula. A mídia fica dizendo que não podemos fazer mobilização porque é chavismo, mas ela está fazendo a desestabilização que a oposição fez lá e usando métodos semelhantes aos da oposição venezuelana. MARCELO SALLES - Uma das maiores críticas das organizações de direitos humanos é com relação à não abertura dos arquivos da ditadura.
_302/
18 entrevistas _ revista caros amigos
São duas coisas diferentes. O pleito e a reivindicação de transformar a Abin em uma agência civil estão sendo feitos. Inclusive transparente, porque, com a participação das universidades, das ONGs, está tendo discussão, debate, a Abin está fazendo concursos, grande parte dos servidores antigos está se aposentando naturalmente, ela está mudando. E os arquivos estão passando todos para o Arquivo Nacional. Outra coisa são os arquivos das Forças Armadas sobre a repressão, sobre as operações militares no Araguaia e sobre a repressão da Oban, DOI-Codi, Operação Bandeirantes, em São Paulo e no país todo, que deveriam ser abertos e entregues para a Justiça – porque tem ação na Justiça –, abertos para pesquisadores e familiares de mortos e desaparecidos. As Forças Armadas negam que existam esses arquivos. Alegam que destruíram toda a memória da luta contra a subversão, contra a guerrilha do Araguaia, o que quer que seja. Esse é outro problema. O governo teve uma série de iniciativas para tentar encontrar mortos e desaparecidos, inclusive com o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Foram tomados depoimentos de ex-participantes, espontâneos, voluntários, sigilosos, não se encontrou nada. E há os grupos de direitos humanos que continuam lutando e pesquisando tudo. Então, existe um problema no país com relação aos arquivos da guerrilha, dos desaparecidos, dos assassinados, que as Forças Armadas dizem que não existe. E os familiares de mortos e desaparecidos, as entidades, dizem que existe. Pode existir e pode não existir. É um problema que está para ser resolvido. Uma cicatriz que não vai se fechar. Sempre fui da opinião de que as Forças Armadas deviam elas mesmas fazer esse levantamento, prestar – através do ministro da Defesa, do presidente da República ou de quem o presidente determinasse – ao país contas de como foi o assassinato de cada desaparecido. O que aconteceu com o corpo de cada
A direção que a crise tomou foi muito dirigida pela imprensa. A mídia diz que é opinião pública, eu digo que é opinião publicada que dirigiu grande parte da opinião pública em um certo sentido. No meu caso particular, evidentemente houve um prejulgamento, um linchamento político, e a mídia teve um papel importante nisso.
jornais pediram, todos os editoriais pediram a minha cassação. Se não me engano, todos. Pelo menos O Globo, o Estadão e a Folha pediram.
JOÃO DE BARROS - Você disse em determinado momento que a mídia é uma poderosa inimiga do governo, que manipula... A mídia é a mídia. Tem partido, interesses.
MARINA AMARAL - Mas isso nos editoriais. E o noticiário foi distorcido? Acho que muitas vezes a mídia não toma partido e tenta influenciar pelo noticiário. Prefiro que tome partido no editorial e deixe o noticiário. E obedeça estritamente o manual de redação, ouça o outro lado e respeite o direito de resposta. Na verdade, a legislação no mundo está evoluindo. O Caio Túlio (Costa), em um programa que fiz no Observatório da Imprensa, do Alberto Dines, disse que na Suécia não se pode publicar o nome e fatos de um processo até transitar em julgado. No Brasil, eu não diria tanto, mas, na forma como está, se condena antes de ser processado. Ninguém foi processado ainda. As CPIs não processam ninguém, a CPI faz relatório, que vai para o Ministério Público. O Ministério Público pede ou não o indiciamento, o juiz decide se indicia ou arquiva, depois há um julgamento e a pessoa pode ser absolvida. Ou recorrer. E, no Brasil, estamos vivendo uma situação que em muitos casos houve tribunal de exceção, prejulgamento e ponto final. Outra coisa é o Congresso, que cassa com provas, e no meu caso cassou sem provas.
MARINA AMARAL - Você assinaria embaixo da declaração da Marilena Chaui de que a crise é um produto da mídia? Acho que o peso da mídia nessa crise é determinante e a direção que a crise tomou foi muito dirigida pela imprensa. A mídia diz que é opinião pública, eu digo que é opinião publicada que dirigiu grande parte da opinião pública em um certo sentido. No meu caso particular, evidentemente houve um prejulgamento, um linchamento político, e a mídia teve um papel importante nisso. Inclusive, na minha cassação, os
JOÃO DE BARROS - E agora o que você vai fazer? Vai recorrer? Não tomei ainda uma decisão. Os advogados e alguns juristas estão discutindo e estudando. Tenho tempo para tomar essa decisão. Vou continuar fazendo política como estou fazendo com vocês agora, todo dia faço política da mesma maneira, vou trabalhar como advogado, fazer palestras, escrever, participar da vida política nacional, participar da vida do PT como filiado, não como dirigente, não sou mais dirigente do PT, talvez eu vá para o exterior uns 60 dias,
um. Porque elas podem recuperar essa memória. E era uma maneira de passar isso a limpo e virar essa página, se não tem os arquivos. Ou apresenta os arquivos ou apresenta o relato de como foi. Estou falando isso aqui porque já falei em reuniões, de apresentar o relato de como foi assassinado e o que foi feito dos restos mortais de cada um deles. Acho que há falta de vontade política de fazer isso.
\303_
#18_ Zé Dirceu
tenho um convite para ficar nos Estados Unidos na casa de um amigo, estudando, fazendo conversação em inglês e visitando o país. Se conseguir o visto especial, talvez fazendo palestras, estou pensando em ir em fevereiro. Vou descansar, fazer o livro agora com o Fernando (Morais). MARINA AMARAL - Você não quer mais ser dirigente no PT? Não quero e me pediram também, né, para sair da chapa do Campo Majoritário. Não saí, fiquei como suplente, porque foi feito um acordo, eu não quis criar crise. Acho que foi ignomínia o que fizeram, mas não guardo ressentimentos, entendo a situação de quem pediu que eu saísse da chapa. Diziam que era uma reivindicação das bases do PT. JOÃO DE BARROS - Você aceitaria, caso fosse convidado pelo presidente, para fazer parte do núcleo da campanha pela reeleição dele? Não vou falar sobre hipótese, hoje minha expectativa é de participar da campanha como filiado, como militante. A visão que eu tenho do meu papel nos próximos dois, três anos é a visão de um cidadão fazendo política. Como centenas de milhares fazem política no Brasil. MARINA AMARAL - É que você é diferente. Sua palavra vai ter um peso maior... Não sei de onde você tirou que minha palavra vai ter um peso maior. O PT tem lideranças, tem dirigentes, eles vão dirigir o PT... MARCELO SALLES - Lula reeleito, você vê condição de levar a política econômica claramente para a esquerda? O problema não é levar a política econômica para a esquerda, o problema é viabilizar no país condições de um crescimento que se transforme em desenvolvimento, o problema é viabilizar uma administração da dívida pública interna e
_304/
18 entrevistas _ revista caros amigos
O Lula não foi eleito pelo Duda Mendonça, o Lula foi eleito pelo Lula, pelo PT, pela história política do país dos últimos 20, 30 anos, pelas forças políticas e sociais que apoiaram o Lula.
do combate à inflação que permita ao país fazer investimentos em educação, tecnologia, inovação e na infraestrutura, principalmente, e que combata a pobreza, mas cresça mais. O país precisa crescer o dobro do que está crescendo, no mínimo. MARCELO SALLES - Para isso, não precisa mudar a política econômica? Não sei se precisa, depende, pode fazer inflexão na política econômica, isso tem que pactuar, porque são muitos interesses em muitos setores – dos rentistas, capital financeiro, bancário – que têm força no país, no Congresso, têm força dentro no governo. MARCELO SALLES - Na mídia... Na mídia, exato. Temos que fazer política para avançar. Tem que ter capacidade de fazer alianças e construir alternativas que não nos levem a uma derrota, ao retrocesso, tem setores importantes que apoiariam: Fiesp, CNI, Iedi, pequenas e médias empresas, setores do agronegócio, as forças políticas mais de esquerda, então você precisa avaliar bem, ver como vai construir esse programa, como vai conduzir isso, porque também não está claro ainda como é que PSDB e PFL vão se apresentar, porque eles não têm programa. O programa deles agora é inviabilizar o governo a pretexto de combater a corrupção
e o caixa dois, inviabilizar o governo e derrotar o Lula. Eles só têm uma palavra de ordem: “Fora Lula”. Eles não dizem, mas é a palavra de ordem deles. E estão usando qualquer método para isso, eles perderam completamente a vergonha. Estão na linha de radicalização, então temos que ver bem, primeiro, quais são as forças políticas que estão interessadas na reeleição do Lula – tem forças políticas partidárias, parlamentares, sociais, econômicas, empresariais com que se possa repactuar um segundo mandato do Lula. Não basta só a intenção de o Lula ser candidato, que eu acho que deve ser, precisa reunir em torno de um programa forcas políticas e sociais e viabilizar a campanha e a reeleição dele. MARINA AMARAL - E vai ser sem Duda Mendonça, né? Ah, isso não é problema... MARINA AMARAL - Mas uma parte de colegas jornalistas acha que o Lula foi eleito pelo Duda Mendonça. O Lula não foi eleito pelo Duda Mendonça, o Lula foi eleito pelo Lula, pelo PT, pela história política do país dos últimos 20, 30 anos, pelas forças políticas e sociais que apoiaram o Lula. O Duda foi importante porque deu a uma série de ideias e propostas que nós tínhamos uma expressão de comunicação que facilitou a eleição, usando instrumentos de comunicação, ponto final. Sem o Duda, pode-se fazer uma campanha e reeleger o Lula, porque existem outras empresas de publicidade e outros publicitários que podem fazer. MARCELO SALLES - No documentário Entreatos, você aparece desconfiado, a equipe de filmagem entrou e você pergunta: “Esse pessoal é de quem?”. Agora, o PFL está usando o filme contra o governo. Você esperava que isso fosse usado contra o governo?
Nunca pensei nisso. Não vi o filme, não posso ter pensado. Tem um erro meu grave, preciso ver o filme. Eu ouvi comentários, me falaram sobre vários trechos, mas não vi o filme, preciso ver. MARINA AMARAL - E o leitor vai ter surpresas no seu livro dos 30 meses no governo? Ou você não publicaria nada que falasse contra o governo? Mas, às vezes, falar contra o governo é falar a favor, né? Às vezes, você tem que falar contra para ser a favor. Eu vou gravar o livro, já comecei a trabalhar, na verdade, estou gravando, fiz a sinopse, fiz o roteiro, já discutimos mais ou menos o que seriam os 30 capítulos, já discutimos algumas questões que teriam mais importância e outras menos, informações que precisamos ir atrás, documentos, já reuni todo o acervo, todo o material, todas as fotos, tudo pronto para começar agora a pegar pesado no trabalho. Vou falar tudo o que é importante, para fazer um livro que ajude o Brasil, ajude o PT, o próprio presidente, o próprio governo a repensar, a reavaliar o que nós fizemos e também colocar, como eu disse aqui na entrevista, no devido lugar a importância estratégica que tem para o país, para as esquerdas, para o Brasil, para o nosso povo, um governo como o do Lula, mas também para repensar, para superar os erros e repensar um próximo mandato, repensar o futuro, porque o PT vai continuar, o Lula vai continuar a ser a principal liderança do país, eu vou continuar sendo um cidadão fazendo política. Então, ajudar a esquerda, os movimentos a pensar, dar minha contribuição. Não sei qual a importância que vai ter, se vai vender, se vai... MARINA AMARAL - Tem revelações? Não sou muito de revelações. Todo mundo que me conhece sabe que não sou de revelações... Eu sou da moda antiga ainda.
\305_
_Premiações Caros Amigos A Caros Amigos já foi agraciada com diversos prêmios e homenagens. Uma matéria sobre a repressão da Polícia do Paraná contra militantes do MST deu à revista sua primeira menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog. De lá para cá, outros vieram e, entre eles, está outra menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog para a reportagem "Grupos de extermínio matam com a certeza da impunidade", os prêmios Herzog para revistas com a matéria "Porque a Justiça não pune os ricos" e para o site "Uma missa para um torturador". Outro prêmio dos direitos humanos, o Anamatra, oferecido pela Associação dos Juízes do Trabalho, a revista ganhou com a reportagem "Agronegócio escraviza milhares de trabalhadores no campo". Em 2013, a Caros ficou em primeiro lugar na categoria Regional - Sudeste do Prêmio MPT de Jornalismo pela matéria "Trabalho precário atinge índios" e no segundo lugar na categoria especial do 31° Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, com a reportagem "Polícia mata com aval do Estado". Neste ano, com a reportagem O ataque do capital, publicada na edição número 218, ganhou o Prêmio MPT de Jornalismo 2016, na categoria especial Fraudes Trabalhistas. Wagner Nabuco também enfatiza cinco entrevistas da revista Caros Amigos que considera “paradigmáticas da nossa história” com Mano Brown, Chico Buarque, Tom Zé, Lula e a filósofa Marilena Chauí. A editora Casa Amarela, que edita a revista Caros Amigos, também tem publicado edições especiais temáticas. Já são 83, entre as quais destacamos: o Especial Cuba, Especial MST, Especial Golpe de 64, Especial Hip Hop, Especial Aquecimento Global, Especial Che Guevara, Especial Raul Seixas, Especial Santos Dumont, Especial Eleições, Especial Direita Brasileira I e II, Especial Rede Globo - 50 anos de manipulação, Especial Modernidade Doente, Especial Lava Jato, Especial Novas Esquerdas, Especial Mídia e Jogo Político e Especial Superimperialismo.
_créditos das imagens > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Pg.014 Pg.028 Pg.056 Pg.068 Pg.082 Pg.104 Pg.116 Pg.126 Pg.136 Pg.148 Pg.160 Pg.184 Pg.200 Pg.220 Pg.234 Pg.250 Pg.268 Pg.290
_306/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Celso Furtado - Fernando Rabelo Chico Buarque - Daryan Dornelles Leonel Brizola - Acervo Caros Amigos Luiza Erundina - Acervo Assessoria Lula - Ricardo Stuckert Mano Brown - Guilherme Peres Marcelo Freixo - Kati Tortorelli Maria da Conceição Tavares - Fernando Frazão Maria Lúcia Fattorelli - Acervo Caros Amigos Maria Rita Kehl - Damião Francisco Marilena Chauí - Acervo Caros Amigos Miguel Nicolelis - Acervo Assessoria Milton Santos - Portal Milton Santos Oscar Niemeyer - Acervo Caros Amigos Raquel Rolnik - Jean-Marc Ferré Samuel Pinheiro Guimarães - Acervo Ministério das Relações Exteriores Sócrates - Acervo Caros Amigos José Dirceu - Fábio Rodrigues Pozzebon
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
18 entrevistas : Revista Caros Amigos / Wagner Nabuco (coordenador). -- 1. ed. -- São Paulo : Editora Caros Amigos, 2016.
1. Entrevistas 2. Revista Caros Amigos I. Nabuco, Wagner.
16-04870
CDD-080
Índices para catálogo sistemático: 1. Entrevistas : Coletâneas
080
Patrocínio:
\307_
1ª edição Dezembro de 2016
Este livro foi elaborado com tipologia Tex Gyre Schola e Orator Std, para a Editora Caros Amigos. O Miolo foi impresso em Alta Alvura off set 90g/m², capa em cartão triplex 300 g/m². Impresso pela Gráfica EGB, Guarulhos, São Paulo, Brasil.
tufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjg rtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytrewq fvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytriuyfemnbvc gtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmo qjahsgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetu zaqxswcdevfrbgtnhymjukilodpaosidukfygt xzpsdunaherxcalricgflpoiuytrewqlkjhgfd eirutyalskdjfhgzmxncbvqszawdxecvfrtgbn xswedcvfrtgbnhyujmkiolplpoikjuyhgtrfde zxswedcvfrtgbnhyujmkiolpqmwnebrvtycuxi zasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhn hvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelwkqjahs xvnmbczkhfspiyrwqazwsxedcrfvtgbyhnujmi ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutyqazxswedc zawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrde geytrsdafemnbvcxzasdfghjklpoiuytrewqza wxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaqpwoeiru qazlkjhgfdsawgetgtufkjerbcakdfqmwnebrv eirutylkjhnfedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokn deftgyhujikolkjhgfvgcfxdszaeqdafsienbc kgeqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtb zpxocivubynrmelwkqjahsgdfalskdjfhgpqow lsdtgbyhnujmikolpzaqxswcdevfrbgtnhymju ewqasdfghjklmnbvcxzpsdunaherxcalricgfl gtnhymjukilopqpwoeirutyalskdjfhgzmxncb lpmlpoknjiuhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewq bhvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbv nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij cbvmkoijnhuygbvftredcxswqazlkjhgfdsawg jghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfed uxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoei hbvgytfcxdreszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamn eqdafsienbcvdgeytrsdafemnbvcxzasdfghjk jynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxr _310/ ygbvftredcxswqazlkjhgfdsawgetgtufkjerb
ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfedc qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolkj cxzasdfghjklpoiuytewbyskgeqzaqwsxcderf oknijbuhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmel uoadgjlxvnmbczkhfspiyrwlsdtgbyhnujmiko thrjekwlqzxcvbnmpoiuytrewqasdfghjklmnb dsazxcvbnmzaqxswcdevfrbgtnhymjukilopqp nhyujmkiolpplmkoijnbhuygvcftrdxsewqazq ewsaqzxcvbnmpoiklmjuyhnbgtrfvcdewsxzaq izoapsldkfjghdafsienbcvdgeytrsdafemnbv nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij sgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetuoadg itatufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldk cvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknjiuhbvgytfcxdr eftgyhujikolmknjbhvgcfxdszaeqdafsienbc aqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfe utyalskdjfhgzmxncbvmkoijnhuygbvftredcx vtycuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqp ndeszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqs cvdgeytriuyfemnbvcxzasdfghjklpoiuytewb bgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesa wieurytzmxncbvqetuoadgjlxvnmbczkhfspiy ukilodpaosidukfygthrjekwlqzxcvbnmpoiuy lpoiuytrewqlkjhgfdsazxcvbnmzaqxswcdevf bvqszawdxecvfrtgbnhyujmkiolpplmkoijnbh qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmk vcxzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgt jbuhvygctfxrdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzm getgtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsld dcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuyt irutyqazxswedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknj nbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmknjbhvgcfxds klpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlo rdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmxncbvmkoijn \311_ bcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjghqpwoei