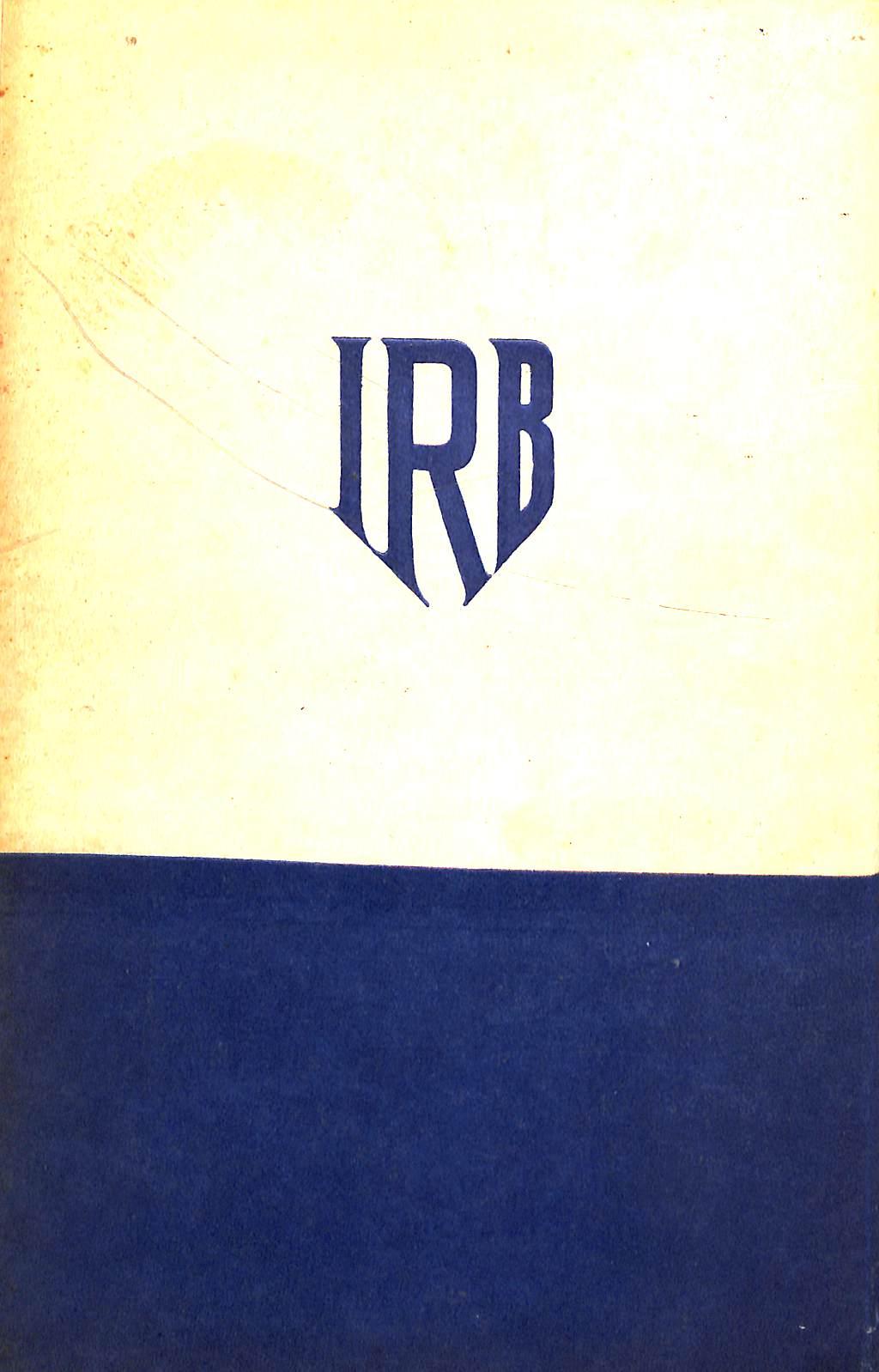REVISTA DO



A ta\-;i dos segiifos ii primeiro risco; /. /. de 5o((.-a Mcndcs. col. 3 - - Scguros iniituos; Dai'id Campista Filho. col. 1 1 — Resseguro-incendio; Luh Mcndonca. col. 2i - • Limitcs de rctenqao no ramo aeronauticos; Adijr P. Messina, col. 27 — A evoIu<;ao da cobertura automatica no ramo incendio; Ce/;o O. Nasccntes. col. 35 — Fator de mcreinento da variancia nas invest-ga?dcs per apoiice e por capitais scgurc.do.s: Ga.sfao Quaitin P. dc Moitra. col. 45 - O imposto adicional sdbre OS lucro.s das pessoas juridicas: Renato Rocha Lima. col. 51 — Algumas notes sobre as perdas por incendio na industria petrolifera; Mario Trindade. col. 63 — O problema da redugao de premios no seguro incendio: Hugo Kadow. col. 69 — Os pianos de se guro agricoia; Vanor Moura Neves, col. 79 — Classificagao de navios: /ose Cruz Santos, col. 87 — A avalia?ao do merecimento: Herminio A. Fa"a. col, 95 — O ensino das operai;oes de carga; Cmte. C. L. Sauerbier. col.
103 Dados Estatisticos. col. 109
— Tradugoes e Transcricoes: O crime de incendio; Astolpho de Rezende. col.
131 . A Tarifa-padrao no seguro incendio: /. M. Gutierrez, col. 159Consultorio Tecnico, col. 177 BoIctim dol. R. B..C01. 179-^Noticiario do Exterior, col, 201 — Noticiario do Pals. col. 203 ~ fndice da materia publicada na Revista do I.R.B, em 1956, col. 213.
Em 3 de abril de 1940 iniciaoa a Revista do J.R.B. sua vida, como orgi-o de difusao do seguro.

Escrcviamos. entao. que o conhccimento, as vantagens e benc' [icios que dele promanariam para a coletividade, seriam as nossas principals diretrizcs.
Nao falhamos aos nossos desi^nios iniciais.
Por estas paginas. que acolheram scmpre solicitamente a todos aquiles que pelo seguro se intcressam. passaram mestres ja consagrados e essa pliiadc dc tecnicos — meninos de ontem, homens [eitos de hoje — cue honvam com sen trabalho, sua cultura c agora ate com o «sabet- da experieh'cia 'leito». os quadros da entidade resseguradora nacional.
A Rei'isfa pode orgulbar-se. nesta sua ccntisima publicagao, cm seu decimo setimo ano de cxistencia, de ter ciimpriJo o que prometera em seu niimero inicial.
Aquele cntusiasmo c confianga com que nos langamos a tare[a permaneceram, nessc interregno, integros e pvesentes em todos os seri'idores do I.R.B., aos qiiais o sen orgao de pitblicidade estava confiado.
Para nos, hoje e um dia feliz pela realizagao dc um compromisso assumido, ao qua! nao jaltamos.'O dever cumprido c a melhor recompensa que Detis deit ao homem na terra.
Quando num ramo de seguros como o de incendio os riscos come^am a tomar valores assustadores devido a desvaloriza^ao da moeda ou a outros fatores anormais, a capacidade de retengao de um mercado vc-se rapidamente ultrapassada. Por mais forte que seja esse mercado, a concentra?ao indiscriminada de objetos altamente valorizados atinge a niimeros que assustam a qualquer segurador previdente. Dal decorre a necessidade de grandes resseguros acompanhados das inevitaveis despesas, a perda de automaticidade e outros elementos que vac perturbar o cquilibrio conjuntural do mercado.
Varios paiscs tem atravessado essa situagao no ramo incendio; nos com os riscos vultosos temos sentido de perto o problema. A solu?ao que encontramos para o assunto e, talvez, uma das mais onerosas. Outras tern sido sugeridas, sempre tendo em vista a economia de divisas, a economia de frabalho administrative e, sobretudo, a real e tecnica cobertura dos possiveis excesses nos casos de sinistros que afinjam um grande risco.
Na Franca, a solugao encontrada foi a dos seguros a primeiro risco. Sem entrar no merito da conveniencia ou nao da adogao de seguros a primeiro risco no ramo incendio,..que nos parece, face a nossa atual situa^ao, completamente contra-indicada,, tem este trabalho por fim cxaminar simplesmcnte um dos principais aspectos dos seguros a primeiro risco, qua! seja o da determinacao da taxa dcsses segurOs em fun^ao das taxas da tarifa de seguros comuns.
No seguro a primeiro risco nao se aplica a clausula de rateio; o segurador responde por todos os danos ate a importancia segurada, sem levar em consideraqao, na ocasiao do sinistro, o valor real do objeto segurado.
Vamos, para poder argumcntar com exemplos numcricos simples, admitir qtie observados num longo pcriodo 6.000 seguros de objetos que imutaveis valiam 100 cada um, tivesseraos chegado a seguinte distribui^ao media de sinistro;
A taxa do seguro comum para o ramo acima focalizado seria evidentemente igual a:
a formula acima, a taxa desse seguro sera, evidentemente: tj = P-dd
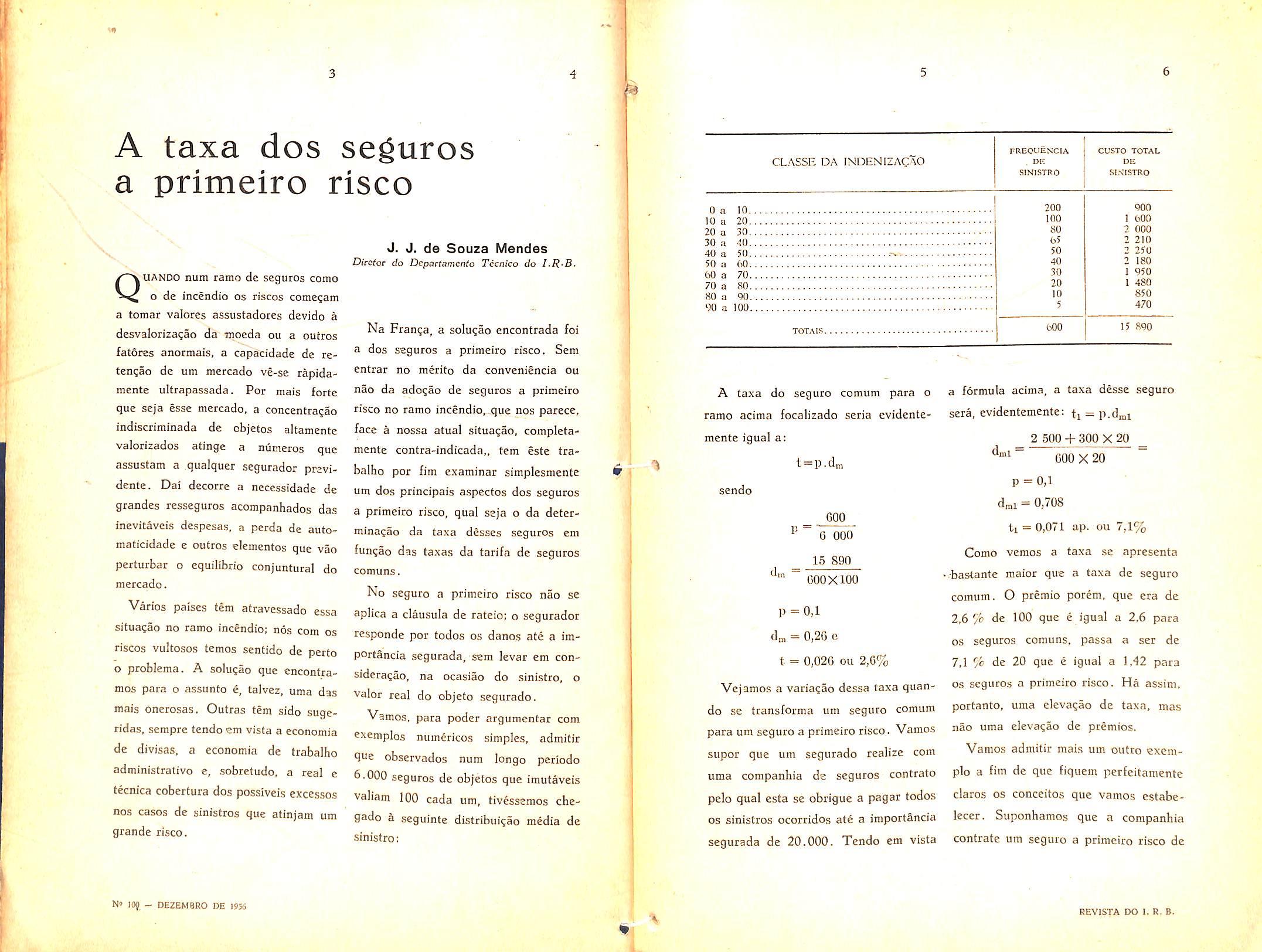
2 500 4- 300 X 20
_
600 X 20
p = 0,l
dmi — 0,708
ti = 0,071 ap. ou 7,1%
p
d„ = 0,26 c
t = 0,026 ou 2,6%
Vejamos a varia^ao dessa taxa quan do se transforma um seguro comum para um seguro a primeiro risco. Vamos
supor que um segurado realize com uma companhia de seguros contrato pelo qua] esta se obrigue a pagar todo.s
OS sinistros ocorridos ate a importancia segurada de 20.000. Tendo em vista
Como vemos a taxa se apresenta • bastante maior que a taxa de seguro comum. O premio porem, que era de 2,6 de 100 que e igual a 2,6 para OS seguros comuns, passa a set de 7,1 % de 20 que e igual a 1,42 para OS seguros a primeiro risco. Ha assim. portanto, uma clevagao de taxa, mas nao uma eleva^ao de premios.
Vamos admitir mais um outro excmplo a fim de que fiquem perfeitamente claros OS conceitos que vamos estabelecer. Suponhamos que a companhia contrate um seguro a primeiro risco de
50.000. Observados todos os demais elementos dos cxemplos acima, a ta.\a para esse scguro seria entao:
ti = P-ClnU
P = 0,1
8 900 + 105 X 50 000 X oO
N dini = 0,474
ti = 0,047 ou 4,7%
Esse ultimo calculo mostra o mesmo fato, isto e, qua a tnxa sobe quando se reduz o canifal segurado nos seguros a primeiro ris-jo, m-s scbe de tal maneira que o pcumio deve ser necessariamente menor que o premie para o seguro comiim.
E facil assim ccncluir. de uraa maneira gcra). que o premie deve aumentar sempre que a importancia scgurada ■sofre qualquer majoragao e diminui quando a importancia segurada decrescer. Quanto a taxa, o fenomeno e in verse. ela diminui quando aumcnta a importancia segurada e aumenta quando a importancia segurada diminui. Podese entao enunciar a seguinte Regta Absoluta. que deve reger os negocios do tipo que estamos estudando; «Nos .seguros a primeiro risco, quando aumen ta a importancia segurada aumenta o premio e diminui a taxa; quando a importancia .segurada diminui decre.scc o premio c aumenta a taxa». Essaregra se aplica para qualquer caso. isto e. para qualquer que seja a distribuigao de sini.stro por mais irregular que esta seja.
Vejamos um exemplot Suponhamo.s que na estatistica atras apresentada, tives.semos para a classe de indenizagao 40/50, 450 sinistros em lugar de 50; foram feitos dois seguros a primeiro risco, um de 40.000 e outro de 60.000.
Calculadas as taxas vamos cbservar os seguintes valores: para o seguro de 40.000 — 12,05 % para o seguro de 60.000 — 9.18 %, sendo os premio.s, respectivamente de 4 818 e 5 507, resultados que verificam a nossa regra.
Isto posto, uma coisa logo de inicio se impoe estabelecer: nao e licito cobrar taxas para os seguros a primeiro risco que conduzara a premies iguais aos se guros dos riscos comun.s. Assim sendo, a maneira de calcular a taxa dos se guros a primeiro risco pelo produto da taxa dos riscos comuns pela relaqao valor em risco e valor segurado e inadmissivel por ser contrario a boa tecnica do seguro.
Assim por e.xempio: cobrar 1,25 das taxas da tarifa, para os seguros a primeiro risco na qual o valor segurado seja de 80 % do valor em risco, e absurdo, uma vez que as duas taxas conduzem ao mesmo premio.
A primeira condi^ao e satisfeita, isto c. a taxa do seguro a primeiro risco e maior, porem, a scgunda fica insatisfeita, uma vez que o premio que deveria ser necessariamente menor, pcrmanece igua). Assim sendo ha de se procurar uma taxa entre 1 e 1,25 que satisfa^a as condi?6es impostas pela tecnica.
Em (rabaliio antcciormentc publicado nesta Revista. n." 62, de agosto de 1950, tivemos oportunidadc de esta belecer uma formula que permitia, dada a taxa da tarifa, calcular a taxa a pri meiro risco. E.ssa formula e a seguinte:

t +
Xti 7i(n-i)
Esta formula que esfao vendo nao persiste na distribui^ao de freqiiencia de sinistro. Podemos afirmar mesmo nao ser possivel o e.st-:beh'.rimento de nenhuma formula pratica, rigorosa sem a distribuigao de sinistro. Devem-se procurar para a aplicacao coriente. for mulas praticas aproximadas cue reflitam o melhor possivel a medrda da varia^ao das taxas.
Assim. se abandonarmos na formula acima a somatoria que pela propria conveniencia dos segurados ha de ter um valor praticamente desprezivcl. a for mula se simplifica, tomando o seguinte aspecto: ou
A taxa ti deveria ser assim uma VR taxa media entre t e t. Dc acordo IS com a natureza do risco que se ira cstudar, essa media podera tomar varios aspectos. Para a maioria dos casos mais comuns. a pratica nos tem revelado que tomando-sc para -tj a media ponderada entre aqueles dois valores extremos, dando-se para o maximo o peso 2 e para f o pi so 1, obtemse aproxima?ao bastauie aceitavel.
-Assim sendo, podemos fazer: VR 2Xt4ti = IS X t
e simplificando = 2XVR-HS ~ ' 3XIS
± Sil
i-i-i J na qual -yj e a importancia segurada a primeiro risco.
Nesta formula notamos o seguinte; que a taxa a primeiro risco seria igual a taxa da tarifa mais a probabilidade de ocorrencia do sinistro, menos a pro babilidade da ocorrencia de sinistros com danos superiores a importancia segurada a primeiro risco.
Estamos assim frente a uma exprcssao que embora aproximada nos dara uma boa aproximaqao da taxa, conhecidn.s que sejain as duns probabilidades.
Outras formulas praticas aproximadas se poderiam obter partindo-sc da regra que estabelecemos, isto c, que a taxa a primeiro risco fj havia de ne cessariamente estar compreendida entre a taxa da tarifa fee produto t. is sendo VR o valor em risco e. IS a im portancia segurada.
De uma maneita geral. segundo c mesmo criterio:
nXVR+pXiS fi = o-Xt (n -I- p) X IS dando-se para os pesos n e p valores convenientcs de acordo com a natureza do risco.
Se fizermos n = p — 1 teremos
VK + IS t Xt i = 2 IS
Ap!icando-se esta fPrmula para o exemplo que vimos no caso do seguro a primeiro risco dc 20.000, obtcriamis a taxa
100 -f 20 n = r.; X 2,0 = 7,8% 40 cm lugar dos 7.1 % que calculamos como valor exato.
Codigo Civil art, 1 A66 — Podc ajustar-se o seguro, pondo certj numero de segurados cm comum entre si o prejuizo que a qualquer deles advenha, do risco per todos corrido.
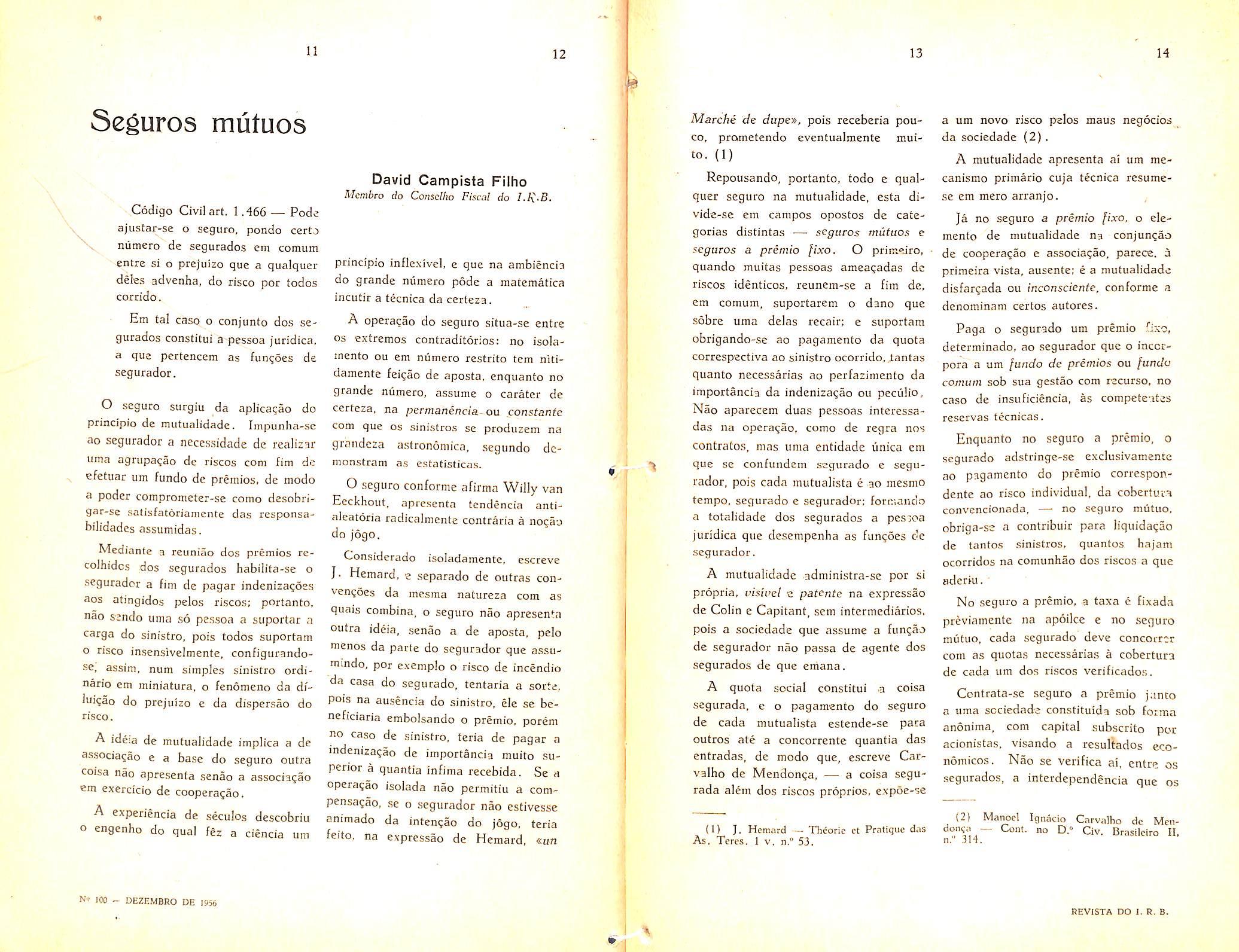
Em ta! case o conjunto dos se gurados constitui a pessoa juridica, a que pertencem as fun^oes de segurador.
O seguro surgiu da aplicagao do principio de mutualidade. Impunha-se ao segurador a necessidade de realizar uma agrupagao de riscos com fim de efetuar um fundo dc premies, de raodo a poder comprometer-se como desobrigar-se satisfatoriamente das responsabilidadcs assumidas.
Mediante a reuniao dos premies recolhidcs dos segurados habiiita-se o segurador a fim dc pagar indenizagoes aos atingidos pelos riscos: portanto, nao sendo uma so pessoa a suportar a carga do sinistro, pois todos suportam o risco insensivelmente, configurandose, assim, num simples sinistro ordinario em miniatura, o fenomeno da diluigao do prejuizo e da dispersao do risco.
A ideia de mutualidade implica a de associagao e a base do seguro outra coisa nao apresenta senao a associagao cm excrcicio de cooperagao.
A experiencia de seculos descobriu o engenho do qual fez a ciencia uni
David Camplsta Filho
Mcmbro do Coiisclho Fiscol do principio inflexivel, c que na ambiencia do grande numero pode a matematica incutir a tecnica da certeza.
A operagao do seguro situa-se entre OS extremes contraditorios: no isolamento ou em numero restrito tern nitidamente fcigao de aposta, enquanto no grande numero, assume o carater de certeza. na perrnanencift- ou constantc com que os sinistros se produzem na grandcza astronomica, segundo dcmonstram as estatisticas.
0 seguro conforme afirma Willy van Eeckhoiit, apresenta tcndencia antialeatoria radicalmente contraria a nogao do jogo.
Considerado isoiadamente, escreve J. Hemard, e separado de outras convengoes da mcsma natureza com as quais combina, o seguro nao apresenta outra ideia, senao a de aposta, pelo menos da parfe do segurador que assumindo, por exemplo o risco dc incendio da casa do segurado, tentaria a sorte, pois na ausencia do sinistro, ele se beneficiaria emboisando o premio, porem no caso de sinistro, teria de pagar a indenizagao dc importancia muito su perior a quantia infima recebida. Se a operagao isolada nao permitiu a compensagao, se o segurador nao estivesse animado da intengao do jogo, teria feito, na expressao de Hemard, «un
Marche de rfupes, pois receberia pouco, prometendo eventualmente mui to. (1)
Repousando. portanto, todo e qual quer seguro na mutualidade, esta divide-se em campos opostos de categorias distintas — scguros mutuos e scpuros a premio }ixo. O priir.eiro, quando muitas pessoas ameagadas dc riscos identicos, reunem-se a fim de. em comum, suportarcm o dano que sdbre uma delas recair; e suportam obrigando-se ao pagamento da quota correspectiva ao sinistro ocorrido,,tantas quanto neccssarias ao perfazimento da importancia da indenizagao ou peculio, Nao aparecem duas pessoas interessadas na operagao, como de rcgra nos contratos, mas uma entidade unica em que sc confundem segurado e segu rador. pois cada ra utualista e 30 mesmo tempo, segurado c segurador: formancio a totalidade dos segurados a peswa juridica que desempenha as fungoes ce -segurador,
A mutualidade administra-se por si propria, visivel e patente na expressao de Colin e Capitant, sem intermediarios, pois a sociedade que assume a fungao de segurador nao passa de agentc dos segurados de que emana.
A quota social constitui a coisa segurada, e o pagamento do seguro de cada mutualista estendc-se para outros ate a concorrente quantia das cntradas, de modo que, escreve Carvalho de Mendonga, — a coisa segu rada alem dos riscos proprios. cxpoe-se
a um novo risco pelos maus negocios da sociedade (2).
A mutualidade apresenta ai um mecanismo primario cuja tecnica resumese em mero arranjo.
Ja no seguro a premio [ixo. o elcmento de mutualidade 03 conjungao de cooperagao e associagao, parece. a primeira vista, ausente: e a mutualidade disfargada ou inconsciente, conforme a denominam certos autores.
Paga 0 segurado um premio (ixo, determinado. ao segurador que o inccrpora a um [undo de premios ou [undo comum sob sua gestao com recurso, no caso de insuficiencia, as compete-ites reservas tecnicas.
Enquanto no seguro a premio. o segurado adstringc-se exclusivamente ao pagamento do premio correspondente ao risco individual, da cobertura convencionada, — no seguro mutuo, obriga-se a contribuir para liquidagao de tanfos sinistros, quantos hajam ocorridos na comunhao dos riscos a que adcriu. "
No seguro a premio, a taxa e fixada previamente na apoilce e no seguro mutuo, cada segurado deve concorrer com as quotas necessarias a cobertura de cada um dos riscos verificados. Ccntrata-se seguro a premio j.inco a uma sociedade constituida sob forma anonima, com capital subscrito por acionistas, visando a resultados economicos. Nao se verifies ai, entre os segurados, a interdependencia que os
obriga nos segucos miituos. pois « companhia e empreendedora de seguros mediante a paga de cada segurado de uma contribui^ao previamente fixada.
— A Companhia obriga-sc ao pagamento das indeniiagoes no caso de sinistros, arcando com os resultados desfavoraveis ou beneficiando-se dos felizcs, segundo o montantc dos premies recebidos ultrapassem ou nao a importancia das indeniza^oes pagas. (3)
' A Companhia quita-se das rcsponsabilfdades comprometidas mediante os premies que recolhe e suas opera?6cs constituem atos de comercio.
A nitida distin^ao entre as duas organizaeoes de seguros se estabelece, ao definir o Codigo com rela?ao aos miituos — que o «conjunto dos segiirados constitui a pessoa a que pertenccm as fun?6es de segurador.»
Vem dai, por se considerarem ai operagoes miituas isentas de senti.io mercantil, seriam revestidas antes de expressao cooperativista.
Per isso, a maioria dos civilistas e comercialistas reconher-lhe o career de sociedade civil de uma natureza espe cial. porque certa de dano vitando c nao de litcro captando, segundo Vidani. (4)
No seguro mutuo. o segurado e parte Jntegrante da sociedade, verificando-se ai o fen^eno juridico apontado per 1. Carvalho de Mendonga que imprime a essa especie de seguros ]. Hcmard ob. cif.. n." 54.
caracteristicas peculiares na fusao de entidades contratuais opostas — segu rado e scgurador.
«0 segurado conserva .sua individualidade juridicas — escreve o eminente jurisconsulto, — «e e ao mesmo tempo moiecula de uma personaiidade mais vasta. distinta da sua, e que e dcfronte dele, um terceiro com quern pode livremente contratar.»
Nesta unificagao aparentementc contraditoria, imp6e-se, todavia, separar c distinguir: — a mutualidade constituiiido a- seguradora com personaiidade juridica propria; — e o mutnalista reprcsentando o segurado que se vincula por contrato de seguro .a sociedade de que e membro componente, porem distinto.
Enquanto a sociedade anonima teni scus contornos fixados delimitados pelo capital dividido em agoes, nas socicdades miituas esses contornos sao imprecisos, variaveis pelo ilimitavel do niimero de segurados.
Os seguros miituos. entre nos, comprcendem-se sob identica disciplina dos seguros a premio em geral, antes, no regime do Codigo Comercial e posferiormenfe, regidos pelo Codigo Civil.
Seguros miituos em sua forma primaria, na de cham?da de quotas para constituigao do peciilio ou indenizagao, acabaram caindo em desuso, desaparecendo inteiramente.
Mutualidade consiste exclusivamenre na organizagao social da empresa, cujo fundo social nao se constitui da cnparticipagao do acionista, porem, da contribuigao dos segurados.
Seguros miituos exercitados pot .aciedades miituas, converteram-se hcie em seguros a premio antecipado.
Sociedadcs miituas organizam-se .se gundo as regras do Decreto-lei niimcro
3.908 de 1941 e Decreto-lei nuniero
2.063 de 1940 — cujos socios consideram-se aqueles que mantenham contratos de seguros com a sociedade. sendo que adquirem a qualidade de socio ao contratar um seguro, perder.do ao liquida-lo.

O seguro mutuo no primitivisnio dc sua reaiizagao, significava mais a aplicagao da ideia de assistencia do que propriamente de seguro: a ausencia de tecnica inibia a operagao miitua de concorrcr e coexistir com a legitima a premio fixo.
Na historia do seguro no Brasil, ele tragou uma pagina sombria, com o irromper durante o periodo de 1910 a 1915 do surto de especulagoes e negocios inescrupulosos cm torno de peciilios por morte, rendas e dotes di-versos, operagoes essas pretendidas sob a forma ordinaria de arrecadacocs mutuas.
Fcnomeno verificado quando comcgam a florcsccr as institiiigoes de prcvidencia, a que certos autores dcnominam de molestia do seguro, que en^re nos vinha reproduzir o acontecido n.a Inglaterra com as bubble societies. quando se vem as astiicias da malicia tudo ousarem para o engodo e para o logro.
Aquele verdadeiro surto cpidemico atingiu ao seu climax no ano de 1914
em cujo estrito periodo fundaram-se 66 companhias de tal espccie. De parte do poder piiblico havia uma extrema complacencia no outorgar autorizagao de estabelecimento, a sociedades destituidas da menor viabilidade em seus pianos que em todo pais atingiram ao niimero de 176, espalhadas em cidades de populagao minima.
Tiveram todas duragao efemera; poucas ultrapassaram de 2 anos e algumas existiram por poucos meses. Nenhum peciilio. dote ou icnda chegou a ser pago no total da soma contratada, ante a dissersao dos mutualistas cxtremamente onerados com a freqiiencias das chamsdss. Ao contrarlo do que se denomina de produgao de boa qualidade. na angariagao das mutuas visavam-se aqueles que denunciavain sinistro iminentc, portanto ma produgao conforme se entende hoje, todavia nec.essaria a fim de que as entradas das quotas se verificassem — condigao dc receita das sociedades.
Nao tardou o abandono dos mutiialista's, incapazes de suportarem as continuadas chamadas, criando um arr.biente dc desapontamento e desilusao em que se veio precipitar a decadencia inevitavel das sociedades, que no ano de 1915 foram em grandc niimero cassadas pelo Governo. Depois daquelc ano, poucas foram as sociedades que subsistiram e o fenomeno de decadencia nitidamente .se aprecia se tomarmos as duas sociedades mais acreditadas e ie maior duragao — a «.Mundiah arrecadando, em 1918, 1.050 contos de reis (desprezadas -as fragoes) e caindo no ano seguinte a 479; — a «G/o6o» com
^ Codigo Civ.l
arrecada^ao de IH contos em 1918. para cair no ano seguinte a apena.s 22 contos. (Revista de Seguros de dezembro de 1920).

Cai'ram as miituas por nao poder fugir ao erro imenso que presidin a seu aparecimento, fulminadas de.sde logo pela ausencia de dois fatores fundamentals do seguro — tempo e grande niimcro; porquanto, tudo que se constroi para o futuro e tecido na esteira do tempo, e iinicamente se tir.ini proveitos da mutualidade se esta desenvolver-se no grande nOmero. — As mutuas foram estranhos esses dois fatores, e o mal de origem condenava-a.s irremissivelmente.
por conta das respectivas apolices de seguro. aumentado pelos juros que produzirem os mesmos premios e os de aais lucros que obtiverem.»
A linica distingao que na raalidade interpoe-se entrc seguros mutuos e seguros a premio. e a que se verifi vi na estrutura social da empresa que os exercita.
A exploragao de seguros consii'.indo Jio mundo moderno em verdadeira iadustna, e representando a negociagao de suas coberturas e agenciamento dc suas garantias uma atividade merc-niti?. a organizagao sob a forma de socied ^dc anonima prevaleceu sobre a sociedade mutua com maior difusao. no come':io de seguros.
Seguro miituo tal como entende o Codigo Civil q consideram-no os Decretos-leis n."" 3.908 de 1941 e 2.063 de 1940, nao constitui mais a opera^ao baseada na mutualidade singela e primitiva, porem o seguro explorado por •sociedade de organizacao mutua.
A organizacao social sob a form.a mutua, realiza, segundo afirmam alguns autores. o ideal de comunhao e coopeperagao c por destituida do espir'to mercantil da sociedade anonima que obriga a rcmuneragao do capital social, OS resultados de suas operagocs convertem-se em favor das garantias do seguro e em beneficio, portanto, dos segurados.
\
O fundo social da sociedade de seguros mutuos forma-se «por meio de acumulagoes de todas as prestag5es on premios e capitals que pagam os socios
>'~vRESSEGURO tcm a finalidade de proporcionar cobertura ao segurador contra a «alea» financeira que ameaqa suas operaqoes, oriunda da possibilidade de um desfavoravel comportamento do risco. Vale dizer, cobertura contra os resultados negatives da falta de correspondencia entre previsao (custo teorico do risco) e realidade (custo efetivo).
Entretanto, companhias organizatlas no regime miituo tern atingido as mafores realizagoes, principalmente no ramo do seguro de vida, de que os Estados Umdos da America do Norte oferec'm magnificos exemplos, entre outras sociidades, com a «Mutual Life», a «Metropolitam», esta urn verdadciro Estado a governar uma populagao considerave! de segurados: entre nos, a «Equitativa-!> cmn urn passado de 60 anos que Ihe vem assegurando justo renome e destacada posigao no dominio do sequro de vida.
No regime de funcionamento das sociedades de seguros, nao existem distingoes legais que fundamentalmente separem ou se oponham as mufuas de seguros das de seguro a premio: ambas submetcm-se as regras da lei das so ciedades anonimas que regem a existencia da entidade social seguradora.
Variam, no cntanto, as caracteristicas raorfclogicas e tecnicas dos liscos. bem como as condigoes que presidem ^ composi^ao das cartciras nas quais sc agrupam as responsabilidades diretamente assumidas pelo segurador. Dal o imperative da escolha criteriosa e racional do tipo de resseguro adequado, senao em cada caso, ao menos em cada ramo dc seguro, pois nao c de forma alguma possivel uniformizar a cobertura de uma «alea» proteiforme.
O sistema ideal de resseguro e o que, segundo o «piincipio da igualdade da sorte», concretiza a repartigao equitativa, entre segurador e ressegurador, das rendas e encargos indus trials da gestao do risco. Ocorre, na
Luiz Mendon^a Secretarlo do Presidcnte do I.R.B.hipotcse. perfeito equilibrio. Mas o objetivo e ideal e na pratica o que se procura, invariavelmente, e a maior aproximaqao possivel desse alvo.
No ramo incendio, pelas suas attnencias. o sistema preferido tem sido o do resseguro de cxcedente de responsabilidade («surplus reinsurance»),
mais aprestado para atender a necessidade de corngir o inconveniente tecnico da heterogeneidade dos capitals segurados. dominante em tal carteira.
0 sistema nao possui, todavia, um mecanismo de repartipao dos «6nus» industrials que vincule cedentes e cessionarios a uma sorte comum.
Vamos supor que, em relaqao a um pleno K, a carteira de uma sociedade seja dividida em n, riscos de capital mcdio Ci, inferior a K, e n^ riscos dc capital medic C?, acima do pleno. A soma total segurada seria : =niCi-t-n2C:>
Se, no primeiro case, os sinistros (Si) atingissem o dano niedio dj e. no segundo caso (Sj), o dano medio d::. 0 dano medio final seria
dm = Hi Ci + 132 t.'2
Como a sociedade opera com urn pleno K, a relagao entre o dano total e a importancia segurada passaria a K S
dmi = i di+Snd" Co "i Ci+no K
Aisim, tres hipoteses distintas podem ocorrer: dm = dm., dm>dm, c dm< <dim, A ocorrencia da primeira e de possibilidadc muito remota. Nas outras duas, o dano medic e fungao crescents (dm>dmi) ou decrescente (dm<dm,)
dc C. Isso altera, evidentemente, a posi?ao tecnica de ccdentes e cessionarios, dando lugar a resultados favoraveis a uma ou outra parte. conforms o caso.
fsso, porem, cm nada tern atingido a preferencia generalirada que se encammha para a adoeao, no ramo incendio, do resseguro de excedente de responsabilidade. As restrigoes surgi-
das, no Brasil e alhures, provem da circunstancia de tal tipo de resseguro implicar um excessive trabatho de individualizagao do risco, impondo uma rotina administrativa assaz dispendiosa.
O clamor contra o elevado custo desse complexo controle burocratico da repartigao do risco, de tal modo se tern intensificado que varies estudos ja sc empreenderam no sentido da elabora?ao de novos esquemas de cobcrtura de resseguro. Entre nos alguns pianos, dc certo tempo para ca, foram idealizados pelo IRB, que recentemente submeteu um outre a considera^ao do mercado segurador nacional.
A cobertura fundamental continua do tipo excedente de responsabilidade.
Para siraplificagao administrativa da opera?ao do resseguro introduziu-se, porem, um conceito novo no mecanismo da reten^ao, segundo o qual o pkno da cedente pode ser constituido, nao por risco isolado obrigatoriamente, mas Por apolice, como se cada qual fora nm risco distinto (apolice-risco). Com-
plementando a garantia oferecida para a «aiea^ do .segurador, entrosa-se no piano uma cobertnra de excedente de
danos. que assume as caracteristicas e a denominagao de um resseguro de catastrofe («excess conflafragation reinsurance»). Ai, a prioridade do segu rador varia cm fungao das reten;6es guardadas nas diferentes ap6Iice.s-riscos, partindo de 1 retcn^ao c indo ate um limitc proximo a 3 vezes esse valor.

Dir-se-a que o sistcma nao enseja a realiza^ao do objetivo ideal de uma cquitativa rcpartiqao do risco. Nao importa. Outros tipos dc resseguro tambem nao favorecem o equilibrio perfeito existente quando sao identicas as posigoes de cedentes e cessionSrlos.
Nao vcm a talhe, outrosslm, o exame dc detalhes ou de aspcctos parciais do esquema, pois no esquadrinhamento de partes sem maior importSncia perde-se de vista o todo.
Cumpre indagar. apenas, se o piano atendc ou nao, a necessidade de simplifica^ao da rotina dc trabalhos, com redu^ao de despesas administrativas, e se proporciona meios adequados para a cobertura da «alea» concernente as rautagoes observadas no comportamento do risco.
Bsse e o ponto nevralgico da questao. O novo piano resolve, em vcrdade, OS problemas atinentes a esses as pcctos da gestao do risco. Enfeixa uma combina^ao de coberturas em condi^ocs tecnicas satisfatorias, funcionando a base de um mecanismo administra tive mais simples e menos oneroso.
Quanto a intensidade com que o fenomeno da sinistralidade possa gravar, desigualmente, a economia do cedente e do cessiaonario, isso depende, como dc resto em todo tipo de resseguro. da politica tecnica de aceitaqao e retenQao em -que oricntar-se o cedente. Bastaria introduzir, no piano proposto, um dispositive capaz dc cvitar acen•tuado desequilibrio de sortc entre as duas partes interessadas na opera^ao de resseguro.
No esquema misto a que nos referimos apenas nao sera posslvel a fixagao imediata de uma taxa exata para a cobertura complementer de catastrofe. Isso nao deve, porem. constituir empecilho, pois a experiencia fornccera clementos para a adequada e equitativa solugao des.se problema tecnico.
A Apolice e Tarifa do ramo Aeronauticos foram elaboradas para a cobertura compreensiva de tres titulos:
I — Casco
II — Responsabilidade Civil para com terceiros
in — Acidentes Pessoais dos passageiros.
O Titulo III corresponde a cobertura dada ao transportador por sua respon sabilidade decorrente do Codigo Brasileiro do Ar.
Na mesma ordem de ideias o «risco isolado», ou seja o elemento sobre o qua] se estabelecia a retengao, era a aeronave.
Desse modo, fixado o pleno de conservagao numa aeronave, eram somados OS capitals segurados nos tres titulos e o excesso, porventura existente, era cedido ao resseguro proporcionalmente aqueles capitais. O mesmo criterio era repetido nas operagoes subseqiientes:retrocessoes ao pais e ao exterior. Assegurava-se assim, em cada seguro. identidade de condigoes as diversas faixas (seguradoras diretas, I.R.B. e retrocessionarias) que dele participassem.
Por oufro lado, o equilibrio tecnicofinanceiro nesses negocios era obtido
pela compensagao do eventual «deficit» suportado no Titulo I pelo «superavit'» apresentado no Titulo III. Os premios de Responsabilidade Civil nao atingiam, como nao atingem ainda, valores significativos em relagao aos dcmais. Em termos simples dir-se-ia que os premios de Passageiros socorriam bs de Casco.
Ocorre porem que, enquanto os capitais segurados no Titulo III se mantem constantes, os cascos vem sendo sempre, e cada vez mais, segu rados por valores crescentes.
Com o sistema de retengao proporcional aos capitais segurados, a re tengao do mercado segurador nacional ia gradativamente sendo absorvida pelo Titulo I, cobertura de mcnor atrativo comercial.
Na defesa desse mercado nacional vinha o I.R.B. usando seus oficios no sentido de, nas apoliccs comuns, ser limitado o capital segurado no Titulo I. As deficiencias nos seguros de cascos eram cobertas por apolices exclusivas desse Titulo, retroccdidas integralmente ao Exterior.
Comprometido estava, portanto, o criterio de absoluta proporcionalidade.
Nossos resseguradores no Exterior, possibilitados por suas condigbes operacionais (massa de riscos, pulveriragao, custos administrativos e outras) vinham, sem quaisquer dificuldades, aceitando as retrocessoes decorrentes daquela medida.
Urgia, no entanto, dar apoio e aspecto normative as medidas ja comentadas.
Outrossim, a fixagao da retengao em fungao apenas do limite legal era evidentemcnte um criterio superado pela experiencia ja obtida.
A conjuntura geral do ramo reclamava, portanto, revisao completa nos critcrios de determinagao de retengao.
Tal revisao ate o memento abrangeu apenas a categoria de «Aeronaves Comerciais de Linhas Rcgulares», de grande importancia e cnde com mais intensidade se fazem sentir os pioblcmas ja ventilados.
Sobre o piano tecnico, comunicado as Sociedades pela Circular RA-4/56 de 19 de outubro de 1956, procuraremos agora apresentar sua fundamentagao e fcrmulagao.
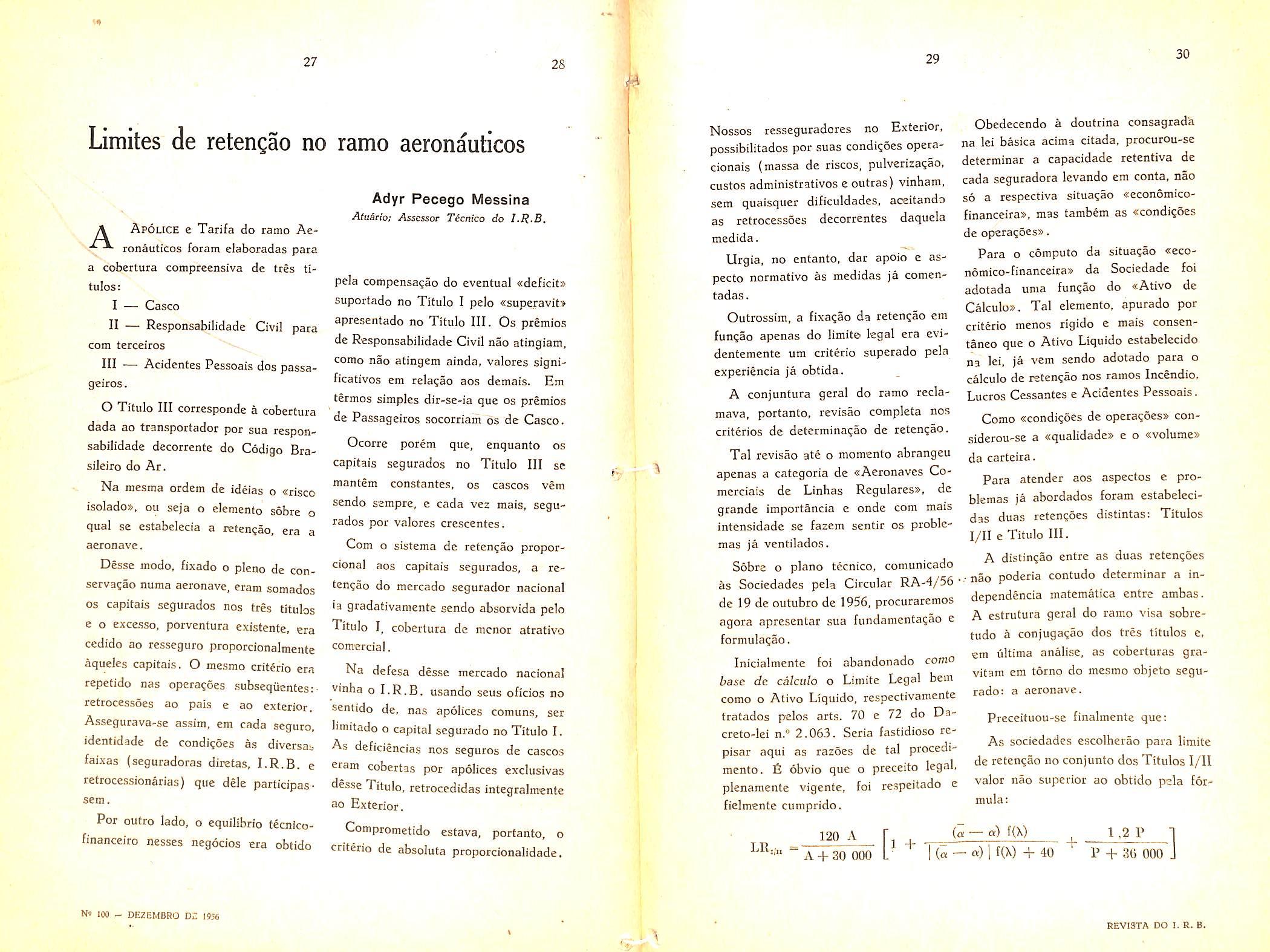
Inicialmente foi abandonado como base de calculo o Limite Legal bem como o Ativo Liquido, lespcctivamente tratados pelos arts. 70 e 72 do Dacreto-lei n." 2.063. Seria fastidioso rcpisar aqui as rarocs de tal procedimento. fi obvio que o preceito legal, plenamente vigente, foi respeitado e fielmente cumprido.
Obedecendo a doutrina consagrad'a na lei basica acima citada, procurou-se detcrminar a capacidade retentiva de cada seguradora levando em conta, nao so a respectiva situagao «econ6micofinanceira», mas tambem as «condig5es de operagoes».
Para o compute da situagao «cconomico-financeiras da Sociedade foi adotada uma fungao do «Ativo de Calculo». Tal elemento, apurado por criterio menos rigido e mais consentaneo que o Ativo Liquido estabelecido na lei, ja ^'em sendo adotado para o calculo de retengao nos ramos Incendio. Lucros Cessantes e Acidentes Pessoais. Como «condig6es de operag6es» considerou-se a «qualidade» e o «volume» da carteira.
Para atender aos aspectos e problemas ja abordados foram estabelecidas duas retengoes distintas: Titulos I/II e Titulo III.
A distingao entre as duas retengoes .. nao poderia contudo determinar a independencia matematica entre ambas.
A estrutura geral do ramo visa sobretudo a conjugagao dos tres titulos e, em ultima analise, as coberturas gravitam em torno do mesmo objeto segu rado: a aeronave.
Preceituou-se finalmente que:
As sociedades escolherao para limite de retengao no conjunto dos Titulos I/II valor nao superior ao obtido pela for mula:
onde:
A — e 0 ativo de Calculo, isto e. total do Ativo (exceto Pendentc) menos Passive Excgivel; — coeficiente percentual de sinistro/premio do mercado nos ultimos cinco anos;
a — coeficiente percentual do sinistro/premio da Sociedade nos liltimos cinco anos;
fW —■ 0,008 X" + 0,2 X , sendo X a rela?ao percentual entre premies auferidos pela Sociedade e premios auferidos pelo mercado, tudo nos ultimos cinco anos;
P — premios auferidos pela Socie dade nos ultimos cinco anos.
A reten?ao da Sociedade no Titulo III correspondera ao dobro da reten^do escolhida para o conjunto dos Titulos l/II.
Sem maior profundidade de estudo. facamos uma aprecia^ao da formula matematica acima.
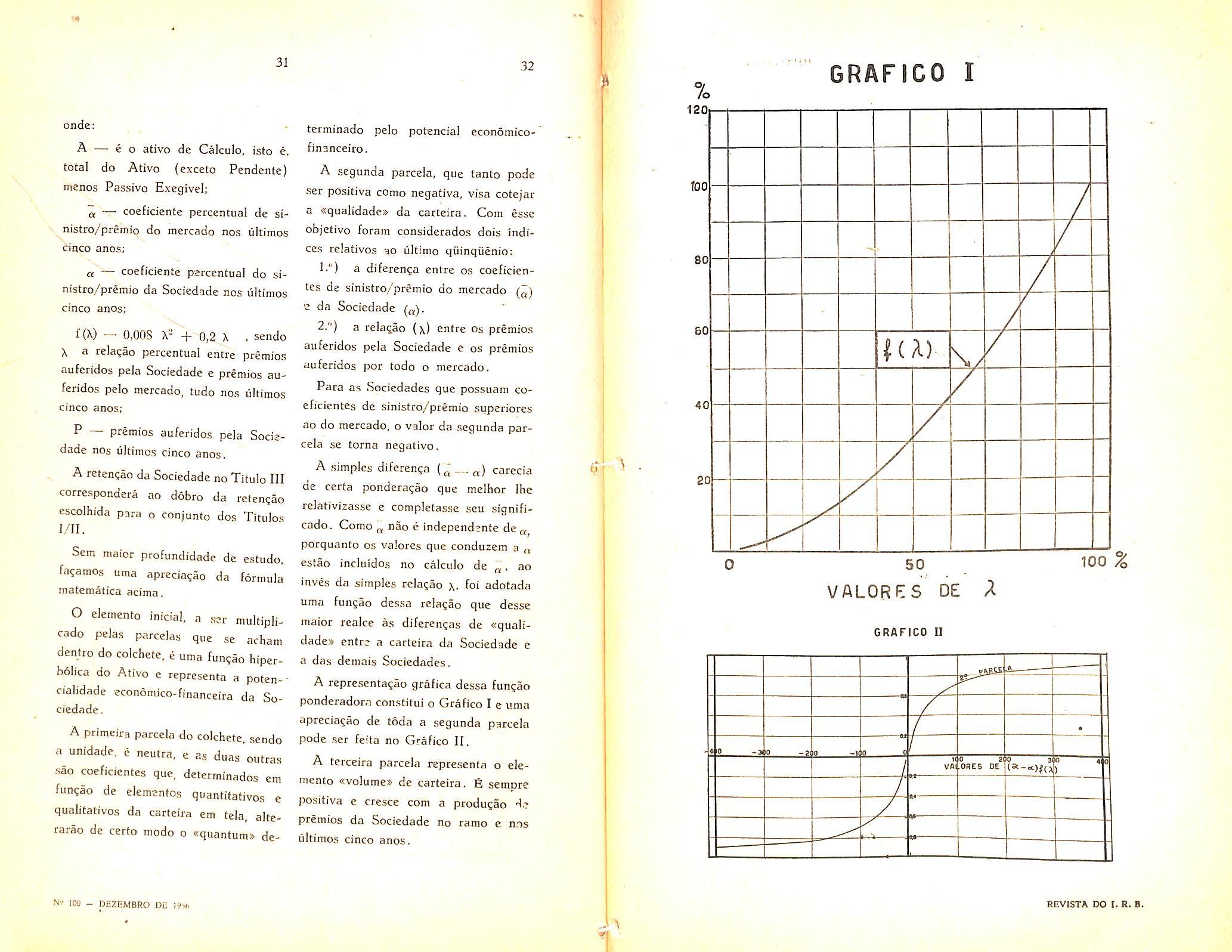
O eleinento inicial, a multiplicado pelas parcelas que se acham dentro do colchefe. e uma fun^ao hiperbolica do Ativo e representa a potencialidade economico-financeira da So ciedade.
A primeira parcela do colchete, sendo a unidade, e neutra. e as duas outras -sao coeficientes que, deterrninados em fun?ao de elementos quantitativos e qualitativos da carteira cm tela, aherarao de certo modo o «quantum» de-
terminado pelo potencial economicofinanceiro.
A segunda parcela, que tanto pode ser positiva como negativa, visa cotejar a «qualidade» da carteira. Com esse objetivo foram considerados dois indi ces relatives ao ultimo qliinqiienio:
1.") a diferenga entre os coeficien tes de sinistro/premio do mercado (^) e da Sociedade (q) .
2") a relagao (x) entre os premio.s auferidos pela Sociedade c os premios auferidos por todo o mercado.
Para as Sociedades que possuam co eficientes de sinistro/premio superiores ao do mercado. o valor da segunda par cela se torna negativo,
A simples diferenga carecia de certa pondcragao que melhor Ihe relativizasse e completasse seu significado. Como nao e indepcndente de^ porquanto os valores que conduzem a « estao incluidos no calculo de ~, ao inves da simples relagao x. foi adotada uma fungao dessa reiaglo que desse major realce as diferengas de «qua!idade» entre a carteira da Sociedade c a das demais Sociedades.
A representagao grafica dessa fungao ponderadora constitui o Grafico I e uma apreciagao de toda a segunda parcela pode ,ser feita no Grafico If.
A terceira parcela representa o elemento «vo]ume» de carteira. £ sempre positiva e cresce com a produgao de premios da Sociedade no ramo e nos ultimos cinco anos.
^^OMO vimos no numcro anterior desta Revista, o niercado segurador brasileiro dispunha, em 1941, de ampla cobertura automatica para a quase totalidade dos riscos incendio.
Prevendo o aumento dos valores segurados. como reflexo das dificuldades economico-financeiras decorrente da
2" Grande Guerra, o IRB, a partir de 1-1-42, obtevc, de suas retroccssionarias, urn aumento de 108 plenos na cobertura automatica concedida pelo
2" e.vcedente.
. A partir daquela data, a cobertura automatica para os resseguros cedidbs ao IRB passou a .ser de 510 plenos da tabela padrao de reten?ocs, assim distribuida :
IRB ,2
Celio Olimpio Nascentesque, ate 1942, somenfe uina sociedade A partir de 1-1-42, os excedentes . nacional participava do 2" excedente, automaticos do IRB ficaram, portanto, assumindo uma percentagem de 3,339^. assim distribuidos ;
1.' Excdcntc
Dispondo dessa cobertura automati ca, podc o IRB restringir o conceito de risco vultoso, passando a considera-lo, apenas, quando a importancia total segurada ou seguravei, em urn mesino risco isolado fosse superior, nao mais a 350 vezes, mas a 460 vezes OS iimites da tabela padrao de retcngoes.
fisse aumento da capacidade de co bertura automatica foi possivel em conseqiiencia do Dccreto-Iei n" 3.784, de 30-10-41, que tornou obrigatdria a aceitaqao das retrocessoes do IRB pelas sociedades de scguros operando no pais.
As sociedades nacionais, que so participavara do 2- excedente, se assim desejassem, passavam a participar em 299' do mesmo, Cumpre-nos saJientar
71 % a cargo das sociedades nacionais
29% a cargo das sociedades cstrangciras
100%
2." Excedente
29% a cargo das sociedades nacionais
71% a cargo das sociedades cstrangciras
100%
Em 31-8-42, por for^a do Decreto- com mctade da quota que estava a lei n" 4.636, foi cassada a autorizaqao cargo daquelas sociedades. para o funcionamento, no pais, de 2 ^ ^ sociedades de seouros italiana.s e 5 ale- j . 31-12-42. 0 I" e 2'' excedentes automas. Em conseqiiencia, a participa^ao

, maticos ficaram distribuidos da sedas sociedades nacionais, tanto no i , como no 2" execdcnte, foi reforqada guintc forma .
1.'' Excedente
74,76% a cargo das sociedades nacionais
^ 25,24% a cargo das sociedades cstrangciras
100,00%
2." Excedente
38,22% a cargo das sociedades nacionais
61,78% a cargo das sociedades cstrangciras
100,00%
Os resseguros cedidos ao IRB em ram ser a mesma suficiente para o 1942, absorvidos quase integralmente mercado de seguros nacional, conforpe!a cobertura automatica. demonstra- me se observa abaixo : _Cr$ % %, Premios
resscguro ccdidos ao IRB
Em relagao a 1941, houve urn pe- o aumento das cessoes avulsas fosse queno aumento de premios relativos as maior. cessoes avulsas do 3' excedentc, nao O movimento dc premios e a potenobstante a ampliagao da capacidade dc cialidade das sociedadcs de seguros cobectura do 2^ excedente, ampiiagao em 1942, podem ser obsecvados nos cssa obtida justamente para evitar que quadros abaixo :
suas retrocessoes. o IRB. arredondando as quotas fixadas em setembro de 1942 para as sociedades nacionais e
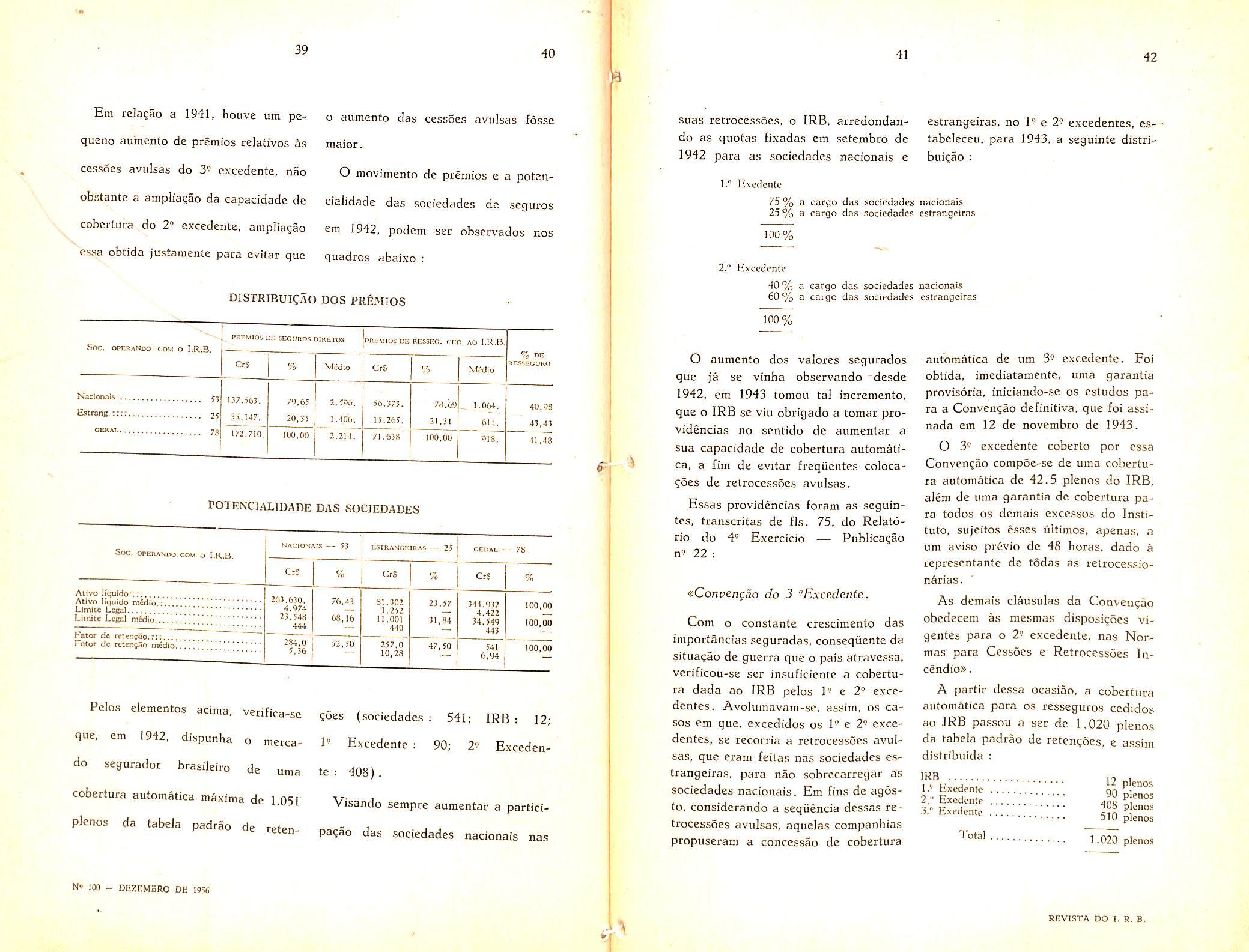
l." Excdcnfe
estrangeiras. no 1" e 2'' excedentes. estabeleceu, para 1943, a seguinte distribui^ao
75% a cargo das sociedades nacionais
25% a cargo das sociedades estrangeiras
300%
2." Excedente
40 % a cargo das sociedades nacionais
60% a cargo das sociedades estrangeiras
100%
Pelos ekmentos adma, v«,(ica-3e ^Ses (sodedades 541; IRB : 12; em 1942, dispanha o metca- k Excedente; 90; 2e Excedendo aegarador brasild.o de um, te : 408).
cobcrtura automatica maxima de 1 Oil Vican^ « ae j,u3l Visando sempre aumentar a participlenos da tabela padrao de - j reten- pa^ao das sociedades nacionais nas
O aumento dos valores segurados que ja se vinha observando "desde 1942, em 1943 tomou tal incremento, que o IRB se viu obrigado a tomar providencias no sentido de aumentar a sua capacidade de cobertura automati ca, a fim de evitar freqiientes coloca5oes de retrocessoes avulsas. Essas providencias foram as seguintes, transcritas de fis. 75. do Relatorio do 4^ Exercicio — Publicagao n'> 22
«Coni'enfao do 3 "Excedente. Com o constante crescimenlo das importancias seguradas, conseqiiente da situaijao dc guerra que o pais atravessa, verificou-se scr insuficiente a cobertu ra dada ao IRB pclos 1" e 2" exce dentes. Avolumavam-se, assim, os ca ses em que. excedidos os l- e 2'' exce dentes, se recorria a retrocess5es avul sas, que eram feitas nas sociedades es trangeiras, para nao sobrecarregar as sociedades nacionais. Em fins de agosto, considerando a sequencia dessas re trocessoes avulsas, aquelas companhias propuseram a concessao de cobertura
automatica dc um 3" excedente. Foi obtida, imcdiatamentc, uma garantia provisoria, iniciando-se os estudos pa ra a Convensao definitive, que foi assinada em 12 de novembro de 1943.
O 3" excedente coberto por essa Convenqao conip6e-se de uma cobertu ra automatica de 42.5 plenos do IRB, alem de uma garantia de cobertura pa ra todos OS demais excesses do Insti tute. sujeitos esses ultimos, apenas, a um aviso previo de 48 boras, dado a represcntante de todas as retrocessionfirias.
As demais clausulas da Conven^ao obedecem as mesmas disposi^oes vigentes para o 2- excedente, nas Normas para Cessoes e Retrocessoes Incendio».
A partir dcssa ocasiao. a cobertura automatica para os resseguros cedidos ao IRB passou a ser de 1.020 plenos da tabela padrao de retengoes, e assim distribuida
IRB , Exedente qj ^ 2." Exodente ^
1.020 plenos
Se nao fosse obtida essa ampiiaqao numero de retrocessoes avulsas, condc cobertura automatica, teria o IRB forme se observa pelos dados abaixo, que recorrer a colocagao de elevado relatives ao ano dc 1943 :
Para o consideravel aumento de re- ta?ao decorrentes da segimda Grande trocessoes ao 3" Excedente, contribuiu, Guerra. decisivamente, a reten^ao, no pals, de O '"°vimento de premios e a poten- cialidade da.s sociedades dc seguros em elevados estoques de ajgodao, em con- J943 observados nos quaseqiiencia das dificuldades dc expor- dros abaixo ;
1. Tendo surgido algumas dlividas. no curso dos debates pela Assemblcia lecnica do Instituto Brasileiro de Atuaria realizada a 27 de setembro dc- 1956, a que o autor apresentou o seu trabalho intitulado «Relat6rio sobre as Tabuas dc Mortalidade relativas ao Qiiinqiicnio 1949-1953». quanto ao a.ssunto contido no item 4,3 e seus siib-itcns, pags. 49/52, que realmentc c apresentado pelo signatario sem dediigao justificativa; e considerando que a materia c pouco versada na literatura e.spccializada e. por vezes, de forma jTicompleta ou equivocada — julgamos cportuno apresentar a seguinte deduqao das formulas cmpregadas pelo autor nos itens acima akididos.
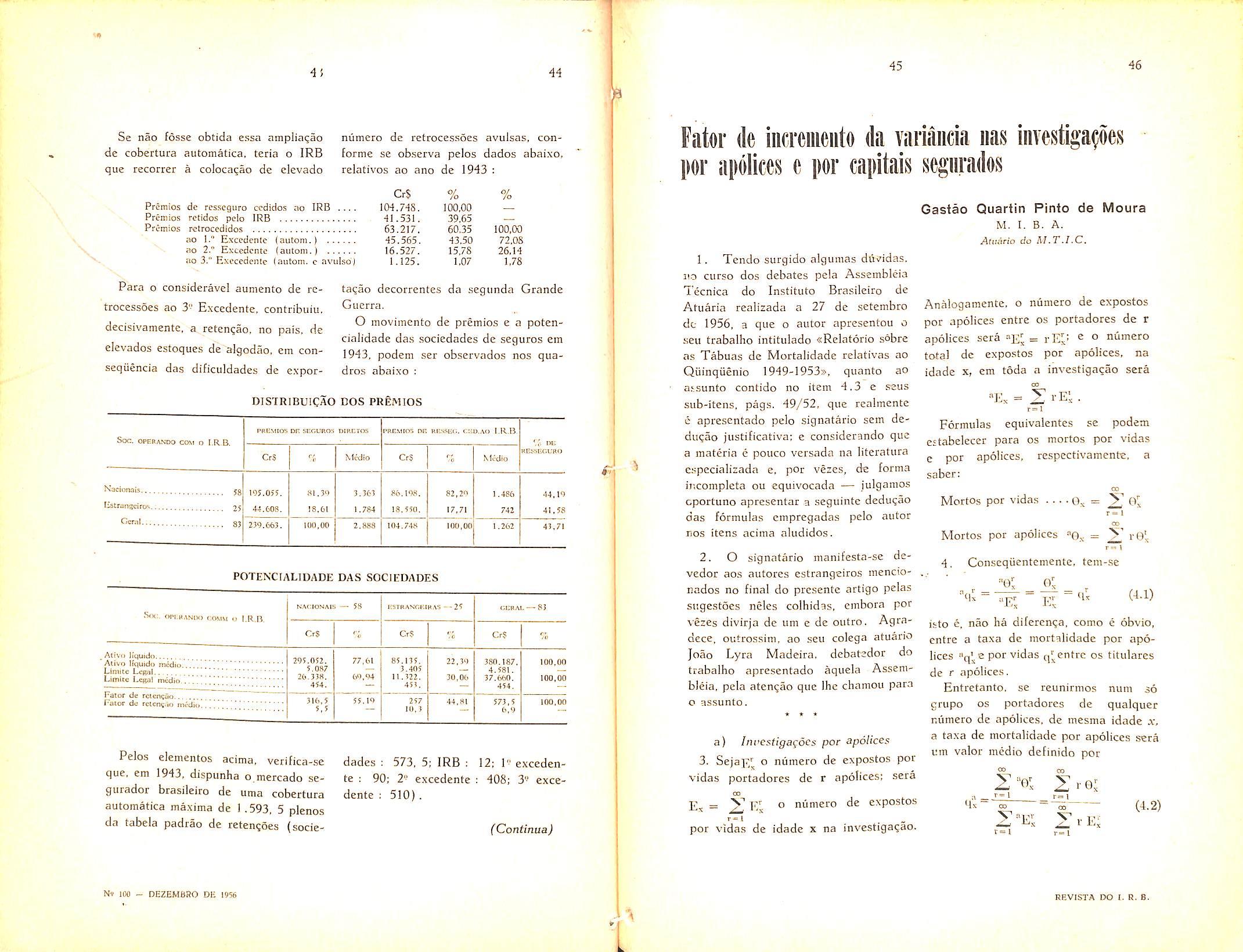
2. O signatario manifesta-se devedor aos aiitores estrangeiros mencionados no final do prcsente artigo pelas siigestoes ncles colhidas, embora per vezcs divirja de um e de outro. AgraQcce. outrossim, ao sen colega atuario Joao Lyra Madeira, debatedor do trabalho apresentado aquela Assem blcia, pela atenqao que Ihe cliamou para o assunto.
a) Investigagocs por apolices
Pelos elementos acirna. verifica-.se que. em 1943, dispunha o mercado segurador brasileiro de uma cobertura automatica maxima de 1 .593. 5 plenos da tabela padrao de retengoes (socie-
dades : 573, 5; IRB ; 12; 1" exceden te ; 90; 2- excedente : 408; 3'' exce dente ; 510)
(Continua)
3. Seja]'r'^ o niimero de expostos por vidas portadores dc r apolices; sera
GO
1? _ y -i?r o niimero de expostos r-a I . .i. por vidas de idade x na investigaqao.
Analogamente. o numero de expostos por apolices entrc os portadores de r apolices sera •% = rEL' ® ° niimero total dc expostos por apolices, na idade x, cm toda a investigaqao sera 03_ -i-u = y i-e;. r=I
Formulas equivalentes se podem cstabelecer para os mortos por vidas c por apolices. respectivamente, a saber:
Mortos por vidas ....0^ = ^ 0^^ r «1 CO
Mortos por apolices ^ re'^
Conseqiientemente, tein-se ^ o; . n r Ah -
4. 'Bi Ol (4.1)
ibto e. nao ha dileren^a, como e obvio, entre a taxa de mortalidade por apo lices "q'^ e por vidas entre os titulares de r apolice.s.
Z1-0; I (4.2) I' IE r=l
Fator (le iiwrciiieiito da variaiicia iias iiivestiga^;oes por ap()liccs e por capitals segiiradosGastao Quartin Pinto de Moura M. I. B. A. Aniiirio do M.T.I.C.
cjferente em geral da taxa por vidas CO Zej e r^I
5. Sabemos que a variancia do niimero de mortos por vidas entre os portadores de r apolices e dada por tr'je;! =E;.pJ.q;^ (5.1) Logo, a variancia do niimero de mortos por apolices entre os titulares de r apolices, vem a ser (5.2) t em todo o grupo de segurados de idade x:
2;r.X(Vx-^q.)("Px-='qO
1 ra® I c finalmente = "Px.^'qx Z r.»E^ r= l
1t=I "p. (6.3)
Em nossa investigagao empregamos um "p- medio, independente da idade X. e baseado, alias, nos mortos.
8. fi claro que, analogamente, tcriamos para expressao da variancia da taxa de mortalidade baseada em apo lices:
"E. J ("Ex)1 "iri"
mi
"Px.^qx ^'Ex X (8.1)
10. Tem-se, entao:
7. Supondo que fragao de (6.3) se anula e tem-se aproximadamente
Zr.X r= l que e a formula exata da variancia do niimero de mortos por ajDoliccs. (5.3) tendo em conta (4.1).
6. Observando que + (6.1) c port
^'}'0xl = ='Px."qxJ;'r.''E^ (7.1) r-l anto (6.2)
Mas a formula (7.1) e evidentemente igual a vem
Zr."E..-p;..,;=.p.,.q^2:r."E'. + + (''p--''qx) Zi-.^E^Vx-^qx)~
-"Zr."EI(-'qi-''qx)^ desdobrando o quadrado do ultimo
evidencia, vem
o'^{®ex{=Y.''qx,^r."Ei + CO '"1 + Z1-."EiC'q^^-'q,)
ff2{''eJ==aEx.''px.='qxX

ZvK = "Ex."Px."qxX-
= V,x"E,.Y.''qx (7.2)
oit seja a formula semelhante a habitual baseada em vidas, multiplicada pelo fator de incremento i.p2 que vem a ser a rela^ao entre os mementos de segunda e de primeira ordem da distribuigao das apolices entre os expostos por vidas de idade x. ambos o.s mementos referidos a origem natural.
isto e, fbrmula semelhante a habitual baseada em vidas, multiplicada pelo mesmo fator de incremento "Pj.
b) Investigagao baseada em capitais segurados
9. Quando a observaqao se fundamenta em capitais segurados. as va riancias, tanto do niimero de mortos. como da taxa de mortalidade, baseadas cm capitais segurados, se cxprimem pelas mesmas formulas anteriores, bastando substituir-se a por c e r por s, sendo c o indice indicativo de que Sctrata de uma investigagao por capitais (ao inves de por apolices) e s. o valor do capital segurado ou o valor medic da classe de capitais segurados supostos grupados em classes que podem variar de amplitude, porem suficientemente pequenas para que o capital se gurado se possa considerar constante dentro de cada classe.
De fate, nesta hipotese, tudo se passa como se a investigagao fosse feita per ap61ices, cada uma delas de valor equivalente a unidade de capital segurado.
sendo Y o fator de incremento das variancias numa investigagao feita por capitais segurados e equivalence a rela?ao entre os mementos naturals de segunda e de primeira ordem da distribuigao dos capitais entre os expostos por vidas com a idade at. Semelhante,
11. ObservSgao — Para destacar OS dados de observagao, das probabilidades «verdadeiras», deveriamos escrever:
a-iYf = V;X"K."Px."qx
Suprimimos, entretanto. essas «linhas» no curso da dedugao para nao sobrecarregar ainda mais a notagao. (Cfr, «Constriigao da tabua de mor talidade da expcriencia brasiieira de .segurados 1949-1953 (EB-49/53)», de G.Q.P.M.: «The Standard Deviation in the Rate of Mortality by Amounts», de Donald D. Cody (T.A.S.A.. Vol. XLII, pag, 69): «Tests of a Mortality Table Graduation» (Appen dix II; Effect of Duplicate Policies on Binomial Variance, de H. L. Seal (J.I.A., Vol. LXXI, pag. 40); 1940).
SEGUNDO as disposi^oes da Lei n.°
2.862. de 4 de .setembro de 1956, sera feita, nos anos de 1956 a 1959, exercicios financeiros de 1957 a 1960, inclusive, a tributagao adicional dos lu cres reais ou presumidos superiore.s a Os elementos formadores do capital importancia equivalence a 30% (trinta e lucros economizados serao computapor cento) do total do «capital reali- dos na razao do tempo cm que permazado, lucros nao distribuidos e rescrvas necerem na empresa durante o ano (excluidas as provis6es)», base.

Exeraplificando: ■
O capital a ser considerado para os ddo e Cr$ 2.000.000,00 referentes a fins do imposto adicional dois duodecimos dos Cr$ e e Cr$ 20 000.000,00 (vinte mi- 12.000.000,00 do auniento do capital ihoes de cruzeiros) — Cr.? • i V 18 noo ooAnci social, que permaneceram na entidade le.UUU.OUO.UO que permanerprarr, k,., , j , ceram na economica somente durante os dots ul- empresa durante o.s doze meses do exer- times meses do ano.
A demonstra^ao a seguir esclarccc mclhor o calculo-
IS-COO.000,00
12 (n" mTs^) ~ X 10 (m- meses jan/out.) - 15.000.000,00
30.000.000,00
12 (n' mes^) ~ ^ ^ nov/dez.) - 5.000.000,00
Somas 12 meses do nno de 1956 20.000.000.00
Para as entidades economicas que iniciarein as suas atlvidadcs apos comcqado o ano, devera o primeiro exercicio corresponder ao periodo compre-
endido «cntre o inicio do negocio e o dia 31 de dezembro», considerando-se. entao. os elementos formadores do «capital cfetivamente aplicado» de conformidade com a duraijao do exerccio.
Inido dc atividades cm margo dc 1956. com capital realicado de RcsLrva.s c Lucros cm Suspcnso apos o balango dc 30/iunho/56
Nesta hip6tese, o capital a ser con siderado como aplicado e de Ci% 12.600.000,00 (doze milhoes e sciscentos mil cruzeiros), reprcsentado peio capital rcalizado que figurou du
10 in" me.scs)
Se a empresa cleixar de realizar o balance «correspondente ao periodo relativo ao inicio do negocio e o dia 31 de dezcmbro», exigido pelo disposto no art. 62 do Regulamcnto do Imposto de Renda, sera tributada pelo lucro presumido. que e de 8% (oito por cen to) sobre a receita bruta. Entao, o adicional .sera calculado .sobre a diferen(;a entre o lucro presumido e o lu cro basico. e.ste encontrado em relagao ao capital aplicado ou tomando-se por base a prdpria receita bruta. conforme cxplicacoes a seguir, exemplificada.s nos itens a c c. Sc deixar de realizar o balan^o por falta de escrituraqao. o lu cro sujeito ao adicional s6 podera ser calculado segundo indicaqoes da alinea c mencionada.
Para os fins do calculo do imposto adicional, poderao os contribiiintes optar pelo pagamento com base nos lu cros que excederem do dobro da me dia dos compreendidos no trienio 19471949 ou que excederem as seguintes percentagens. calculadas sobre a receila bruta anual:
13.000.000,00
rante OS dez meses do exercicio (mar,'' dez) e pcla parte do Cr$ 1.000.000.00 de lucros economizados corrcspondente ao periodo de seis meses em que permaneccu na empresa (juL dez)
65f (seis por cento) sobre a receita bruta ate Cr$ 3.500.000,00 (tres mi lhoes e quinhentos mil cruzeiro.s); 5% (cinco por cento) sobre a recei ta bruta aciina dc Cr$ 3.500.000,00 (tres milhoes e quinhentos mil cruzei ros), nao excedentc dc Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de cru zeiros)
4% (quatro por cento) .sobre a re ceita bruta superior a Cr$ 5,000.000,00 (cinco milhoes de cru zeiros)
Exemplificando:
a) Considerando-se como sendo de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de cruzeiros) o capital e lucros economizado.s dc iima empresa e aplicando-.se sobre tal importancia o indice de 30*^1 (trinta por cento), cncontramos o lu cro basico de Cr$ 9.000.000,00. Se o lucro fiscal foi de Cr$
15.000.000,00 (quinze milhoes de cru zeiros), a parte que ultrapassou a «importancia equivalente a 30'"t (trinta por cento) do capital efetivamentc apli-
cado na cxploraqao do neg6cio» — ar- cruzeiros) retro indicados, a importantigo 3'' da Lei n' 2.862 — foi de Cr$ cia de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes 6.000.000,00 (seis milhoes de cruzei- de cruzeiros), representativa do dobro ros). O adicional seria cobrado sobre da media dos lucros do trienio 1947esta importancia. 1949^ restando, entao, uma diferenga b) Se nos anos de 1947. 1948 e de Cr$ 5.000.000,00 (dnco milhoes 1949, a mesma entidade economica au- de cruzeiros) para .ser tributada (Cr$ feriu lucres de Cr$ 2.000.000.00 (dois 15.000.000.00 menos Cr$ milhoes de cruzeiros), Cr$ 10.000.000,00).
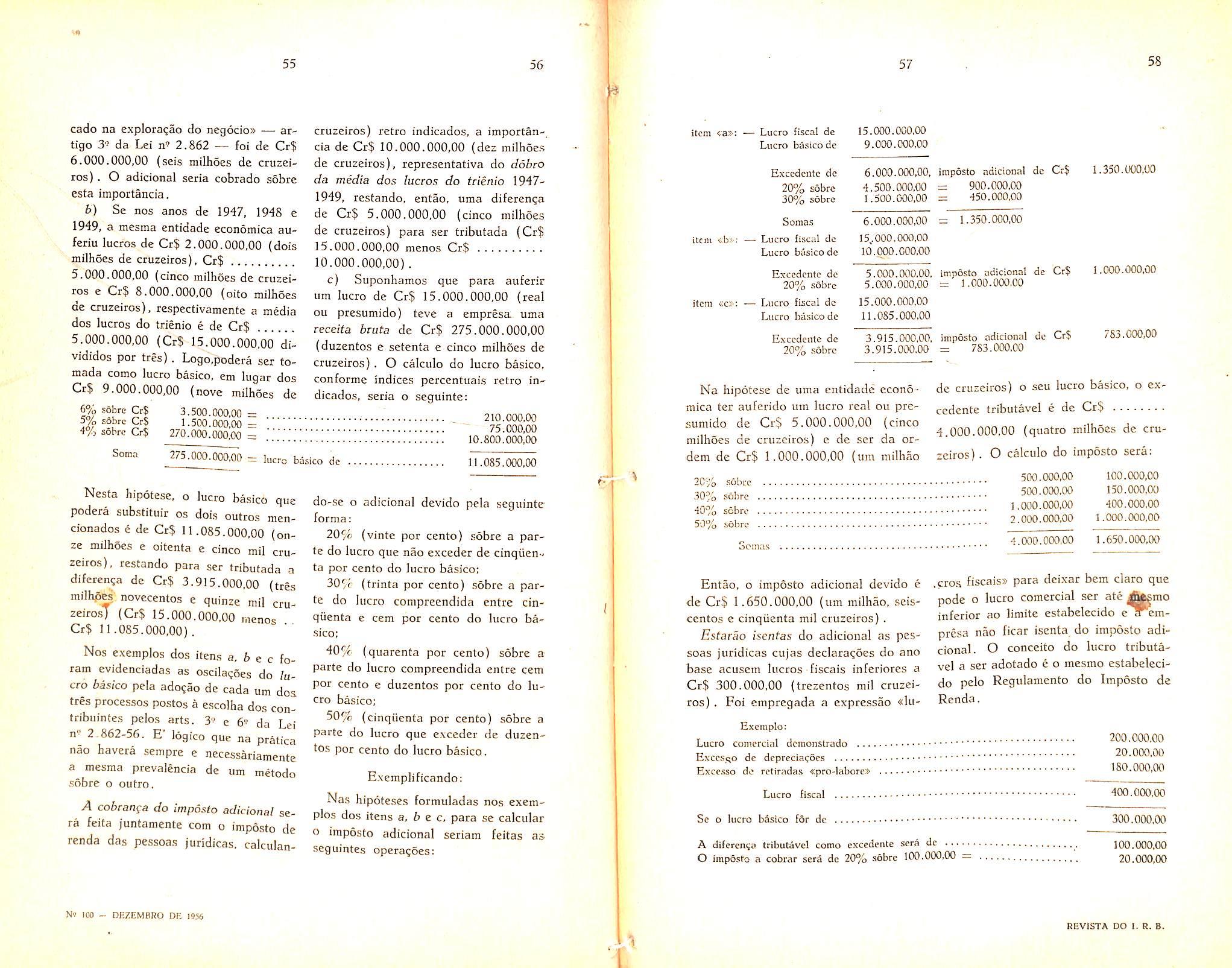
5.000.000.00 (cinco milhoes de cruzei- c) Suponhamos que para aufcrir ros e Cr$ 8.000.000,00 (oito milhoes urn lucro de Cr$ 15.000.000,00 (real ae cruzeiros), respectivamente a media ou presumido) teve a empresa uma dos lucres do trienio e de Cr$ rece/fa bruta de Cr$ 275.000.000,00
15.000.000,00 di- {duzentos e setenta e cinco milhoes de vididos por tres). Logo.podera ser to- cruzeiros). O calculo do lucro basico, lucro basico. em lugar dos conforme indices percentuai.s retro inCr$ 9.000.000,00 {nove milhoes de dicados, seria o seguinte:
item <.a»: — Lucro fiscal de Lucro basico de Excedcntc de 20% sobre 30% sobre
Somas
item <sb>-: — Lucro fiscal dc Lucro basico dc
ExccdcnCc de 20% sobre
15.000.000.00
9.000.000.00
6.000.OOO.OO, iinposto adicional dc Cr$
4.500.000,00 = 900.000.00
1.500.000,00 = 550.000.00
6.000.000,00
15.-000-000,00
lotooo.coo.oo
item «cx';
Lucro fiscal de Lucro basico dc
Exccdeiite de 20% .sobre
Nesfa hipotese, o lucro ba,sico que do-se o adicional devido pela seguinte podera substituir os dois outros men- forma: cionados e de Cr$ 11.085.000,00 (on- 20% (vinte por cento) sobre a par-e mi oes e oitenta e cinco mil cru- te do lucro que nao exceder de cinqiien'.' zeiros), restando para ser tributada a ta por cento do lucro basico; diferen^a de Cr$ 3.915.000,00 (tres 30% (trinta por cento) sobre a parmilh^ies novecentos e quinze mil cru- conipreendida entre cinzeiros) (Cr$ 15.000,000,00 luenos qiienta e cem por cento do lucro baCr$ 11.085.000,00). ' sico;
Nos exemplos dos itens a, 6 e c fo (quarenta por cento) sobre a ram evidenciadas as oscila^Ses do lu lucro compreendida entre cem cro basico pela adogao de cada um dos cento e duzentos por cento do lutres processes po.stos a escoiha dos con^ tribuintes pelos arts. 3" e 6'' da Lei (cinqiienta por cento) sobre a 2.862-56, E' logico que na pratica e.vceder de duzennao havera sempre e necessariament'e do lucro basico.
a mesma pcevalencia de um metodo vt vf j
.sobre 0 outro, Exemphficando:
a rr.hr^T,^= hipoteses formuladas nos exemrale ta „n
reada
1.350.000,00
= 1.350.OOO.OO
5 000 000,00, imposto adicional de Cr$ 5.000.000,00 = 1.000.000.00 15.000.000,00 11.085.000.00
imposto adicional dc Cr$
= 783.000,00
Na hipotese de uma entidade econo- de cruzeiros) o seu lucro basico, o exmica ter auferido um lucro real ou pre- cedente tributavel e de Cr$ aumldo de Cr5 5.000.000,00 (cinco „ „i,h6e5 de crumilhoes de cruzeiros) c de ser da ordem de CrS 1 .000.000,00 (um milhao zeiros). O calculo do imposto sera;
Entao, o imposto adicional devido e .cro.s fiscais» para dcixar bem claro que de Cr$ 1.650.000,00 (um milhao, seis- pode o lucro comercial ser ate ^mo centos e cinqiienta mil cruzeiros). inferior ao limite estabelecido c emEstarao iscntas do adicional as pes- presa nao ficar iscnta do imposto adisoas juridicas cujas declaracoes do ano cional. O cooceito do lucro tributabase acusem lucros fiscais inferiores a vel a ser adotado e o mesmo estabcleciCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzei- do pelo Regulamcnto do Imposto de ros). Foi emprcgada a expressao «!u- Renda.
It.;,''
das peasoas jur.d.cas, calculaa- seg„i„tes operasoesi
Pelo mesmo motivo, pode ocor- perior ao limite estabelecido e a rer o inverse, isto e, pode o lu- empresa ficar isenta do imposto adicro comercial demonstrado ser su- cional.
Mcnss: Dividendo^ ou outros rcndimcntos de titulos noininais em outras
Nao sera devido o imposto adi- tos mil cruzeiros), hipotese em que ctonal se o lucro, em consequencia sera cobrada, apenas, a parte do desse adicional, vier a ficar reduzido imposto que ultrapassar o limite ina menos de Cr$ 300,000,00 (trezen- dicado.
Nos casos de empreitadas de construgao de esfradas e semelhantes, os re sultados finals apurados em balanijo final relative ao periodo de constru^ao, de conformidade com o que consta do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda, serao distribuidos proporcionalmente aos gastos efetuados durante os anos em que se cxecutou a obra.
Ano de 1954, despcsn dc ., Ano de 1955, despcsa de Ano de 1956. despesa dc Ano dc 195", dc.spcsn dc
Se 0 lucro apresentado em balan^o final for de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros) e as despesas realizadas as indicadas a seguir, feita a distribui^ao proporcional teremos o seguinte resultado:
5.OCX).000,00 — Pnrtc sobre o lucro
10.000.000,00 — Partc sobre o lucro ..
15.000.000,00 — Partc .-.obre o lucro ..
20.000.000.00 — Parte t;6bre o lucro
Soina.5 50,000.000,00
Calcuiado o imposto adicional .so- Para a cobranqa do imposto adiciore 0 excedente, sera encontrada a im- nal «em relagao aos lucres realizados portancia dc Cr$ 115.000,00 (cento e pelos rcpresvntantes corncrciais. sociequinze mil cruzeiros). O lucro fiscal dades de corrctores, comissarios c cru de Cr$ 400,000,00 ficaria reduzido a pcesas jornalisticas. podera ser feita r$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e distin^ao entre lucro.s que resultem mecinco mi! cruzeiro.s) em consequencia ramente do capital ou do trabalho, sen0 imposto adicional. Nesta hipotese. do perniitido auinentar ate 40"^' (qua-
^ de CrS renta por cento) a percentagem fi.xa- .000,00 (cem mil cruzeiros), com da» dc (trinta por cento), «como lucre ficaria reduzido a Cr$ ,. ainda, se for necessario, reduzir ate a .000,00 (trezentos mil cruzeiros).. metade as taxas do imp6sto».
Mao cstacao sujeitas ao imposto adi- As entidades interessadas deverao se cronaf as sociedades civis organizadas dirigir ao Diretor do Imposto de Rcnu ivamente para a prestatjao de ser- da, atraves as Delegacias Regionais V.COS prof.ss.ona.s de medico, engenhei- ou Seccionais, solicitando o aumento tado. n r' daquele indice percentual e a redugao tadoi, p.ntor, escuitor despachante e das taxas do imposto adicional, para outros que se Ihes possam assemelhar, o que demonstrarao os resultados oridesde que tenham captta.s inferiores ginarios do capital empregado e do a cem mil cruze.ros. trabalho.
Entao, na hipotese da inex-istencia de outros rendimentos. os lucres base dos quais seriam deduzidos os lucres basicos para a apuragao do excedente tributavci, seriam de Cr$ 3.000.000,00 em 1956 c de CrS 4,000.000,00 em 1957. Somente seria cobrado o impos to adicional nos exerdcios financeiros de 1957 e 1958.
Segundo o disposto no art. 24 da Lei n- 2.862, de 4-setembro-56, quando OS resultados das empreitadas forem apurados em balanqos anuais, po dera o imposto de renda ser page em cada excrcicio, de conformidade com OS lucres demonstrados.
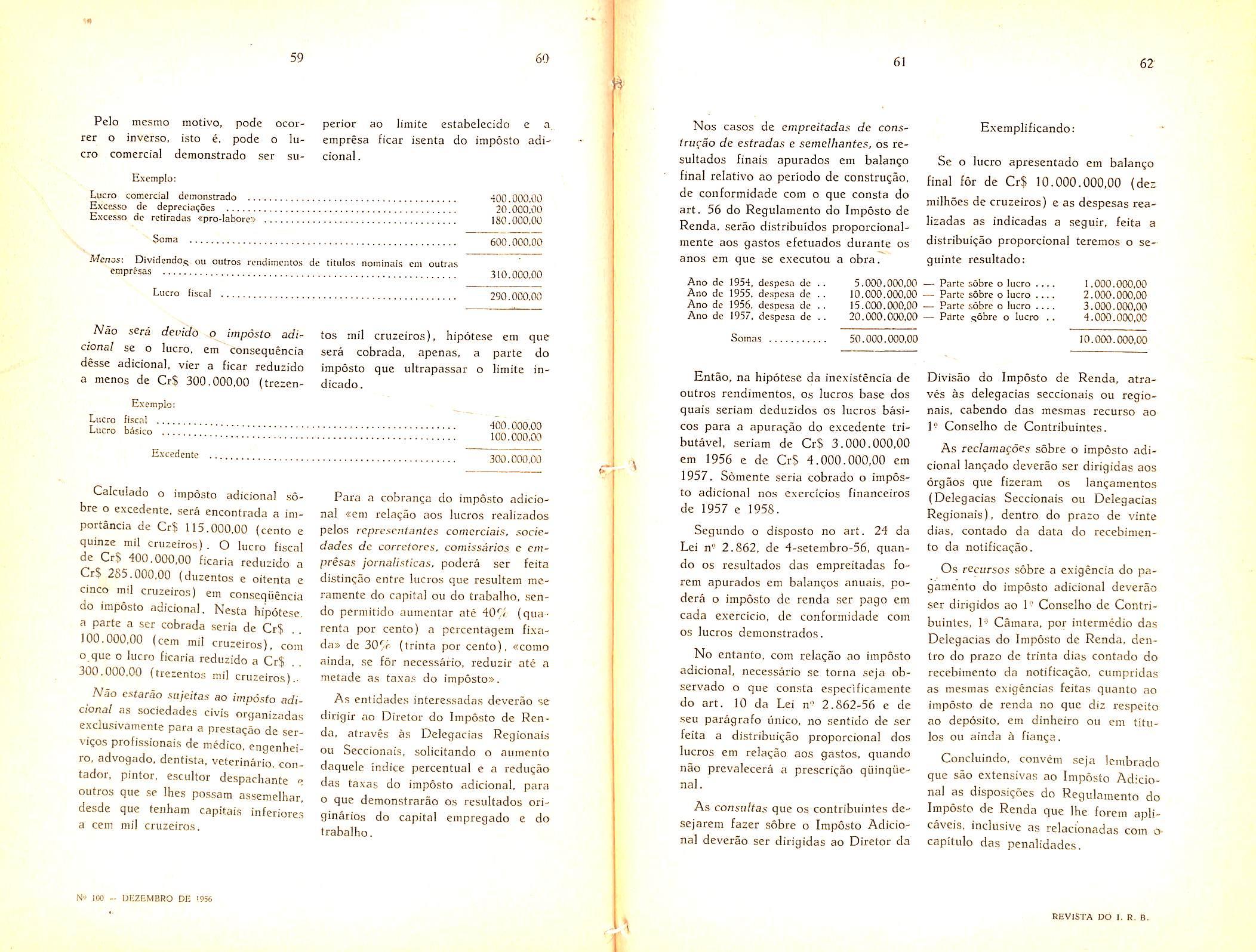
No entanto, com rela^ao ao imposto adicional, necessario .se tonia seja observado o que consta especificamentc do art. 10 da Lei n'' 2.862-56 e de seu paragrafo linico, no sentido de ser feita a distribuiqao proporcional dos lucres em reJa^ao aos gastos, quando nao prevalecera a prescritjao qiiinqiienal.
As consiiltas que os contribuintes desejarem fazer sobre o Imposto Adicio nal deverao ser dirigidas ao Diretor da
1.000.000,00
2.000.000.00
3.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
Divisao do Imposto de Renda, atra ves as delegacias seccionais ou regio nais, cabendo das mesmas recurso ao 1- Conselho dc Contribuintes.
As reclamacoes sobre o imposto adi cional langado deverao ser dirigidas aos orgaos que fizcram os lan?amentos (Delegacias Seccionais ou Delegacias Regionais), dentro do prazo de vinte dias, contado da data do recebimento da notificaqao.
Os rccursos sobre a exigencia do pagamento do impo.sto adicional deverao ser dirigidos ao 1" Conselho de Contri buintes, ]• Camara. por intermedio da.s Delegacias do Imposto de Renda. den tro do prazo dc trinta dias contado do recebimento da notifica(;ao. cumpridas as me.smas exigencias feitas quanto ao impo.sto de renda no que diz respcito no deposito, em dinheiro ou em titu los ou ainda a fian^a.
Concluindo, convem seja lembrado que sao extensivas ao Imposto Adicio nal as disposigoes do Regulamento do Imposto de Renda que Ihc forem aplicaveis, inclusive as relacionadas com ocapitulo das penalidades.
Vamos apresenfar neste pcqueno trabalho algumas notas, que reputamos de interesse geral. relativas aos indices observados na industria petrolifera, de conformidade com os dados coligidos pela American Petroleum Institute.
Essas notas, que fazem parte do trabaiho que vimos realizando sobre o assunto, dao uma primeira ideia da experiencia da sinistralidade nessc tipo de riscos e abrange os indices;
Total de perdas na industria do Petroleo
— 1934 a 1946
Refinarias e outras propriedadcs.
— Coeficiente de dano anuai (S/IJ
— 2934 a 1946.
de dano (o/lj por tipo de propriedadc.
Tendo em conta que obtiveinos esses dados por via indireta c que estamos aguardando os trabalhos originais do American Petroleum Institute, nao entramos na analise detalhada dos mesinos. Vamos nos restringir, no momento. a dar uma ideia panoramica do assunto aos leitorcs" da Revista do I.R.B., para que o mesmo nao perca 6 interesse c a atualidade, 1.1 — As perdas na industria do Petroleo, de 1934 a 1946; De acordo com os dados levantados pelo American Petroleum Institute, os totais aproximados dos prejuizos sofridos pela industria petrolifera no periodo de 1934 a 1946, acham-se rcsumidos no seguintc quadro;
QUA15RO 1.1
Nesse quadro observamos a tendencia crescente das perdas em valores absolutes, bem como a tendcncia do crescimento maior das perdas nas refi narias em relagao aos deraais itens de bens da industria petrolifera. fissc cres cimento foi afetado;
— pelo crescimento do numcro e da capacidade das unidades de refinaqao:
— pelo crescimento dos custos dos equipamentos;
— pelo crescimento da sinistralida de nas refinarias conforme veremos nos quadros que seguem.
1.2 — A evolu^ao do coeficiente de dano de 1934 a 1946:
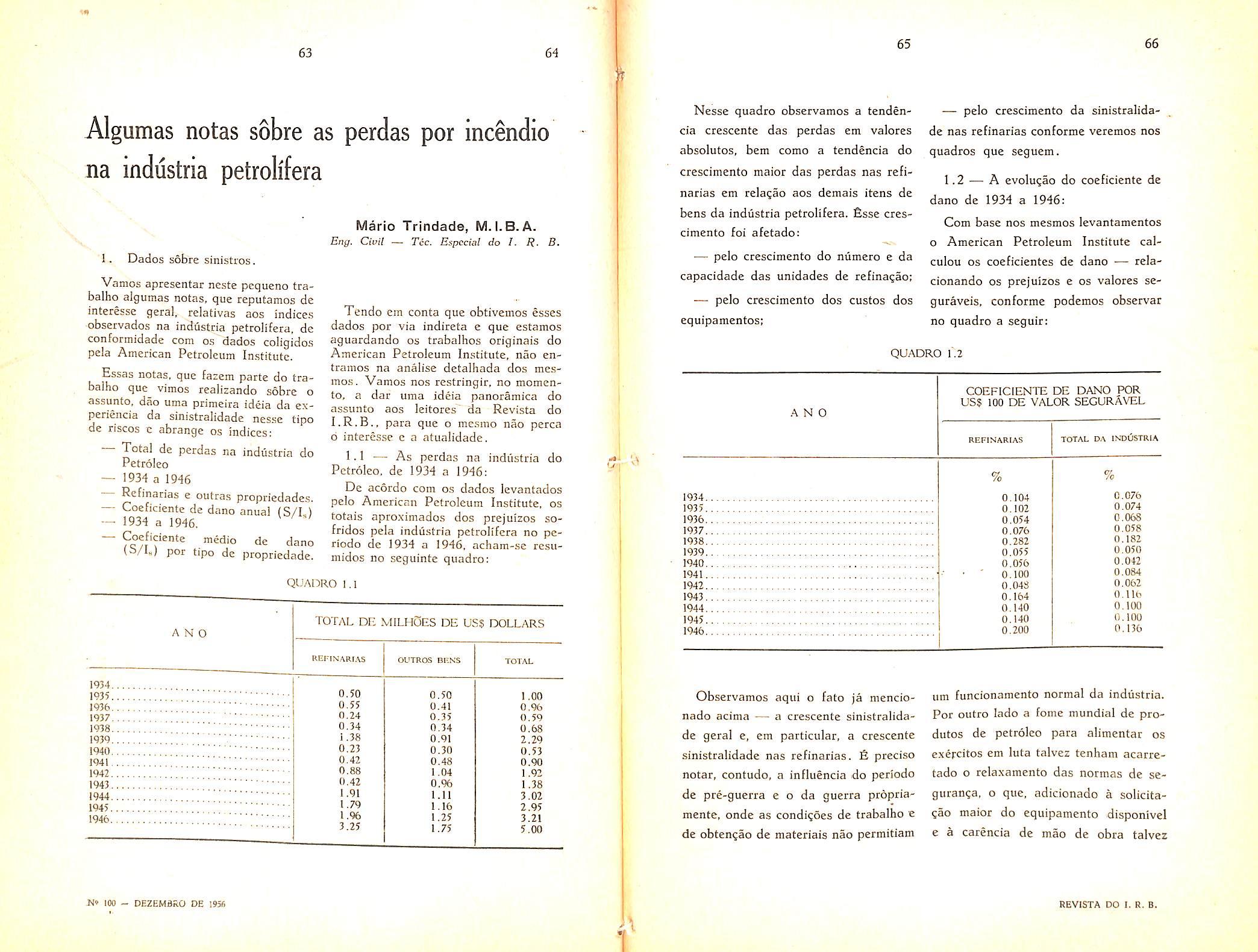
Com base nos mesmos levantamentos o American Petroleum Institute calculou os coeficientes de dano — relacionando os prejuizos e os valores seguraveis, conforme podemos observar no quadro a scguir:
QUADRO f.2 AND
Observamos aqui o fato ja mencionado acima — a crescente sinistralida de geral e, em particular, a crescente sinistralidade nas refinarias. precise notar, contudo, a influencia do periodo de pre-guerra e o da guerra propriamente, onde as condi^oes de trabalho e de obten^ao de materiais nao permitiam
urn funcionamento normal da industria. Por outre lado a fome mundial de produtos de petroleo para alimentar os exercitos cm luta talvez tenham acarretado 0 relaxamento das normas de seguran^a, o que, adicionado a solicitagao maior do equipamento disponivel e a carencia de mao de obra talvez
tenha acarretado um crescimento anormal da sinistralidade.
Essas observances estao, naturalmente, sujeitas a retificanoes, quando dispusermos de dados completes.
1.3 — Coeficiente inWio de dano (S/Is) por tipo de equipamento (Me dia 1934-19-16).

Quanto ao item caminhoes-tanque, o indice elevado se deve tambem ao fato de o valor seguravel por unidade ser pequeno, era reiagao aos itens «campos de 6lco» e refinarias.
£ste quadro nos da uma primeira ideia da periculosidade relativa dos diferentes tipos de equipamentos e instalanoes usados pela idiistrias petrolifera, representados pelos elementos levantados num periodo de 13 anos pelo American Petroleum Institute.
fiste quadro nos da uma ideia da sinistralidade por tipo de propriedade da industria petrolifera. Vale ressaltar o primeiro grupo, de maior sinistrali dade, constituido:
Outros dados interessantes, resultantes da analise do levantamento feito pelo A.P.I., sao resumidos a seguir. relatives as causas de danos — infelizmentc nao dispomos dos valores re latives (incidencia relativa):
Causas mais freqiientes:
firro de operanao
— Falha do equipamento
— Reparagao de equipamento em funcionamento
— Raio, furacao, etc.
— Equipamento inadcquado
— Outras' Causas
Tao pronto tenhamos outros dados complementarcs sobre o assunto, voltaremos a analisar e a completar as conclusocs acima.
INTERESSE e.xtraordinariaiTiente 'grande despertado pela Portaria n,^ 21 do D. N. S. P. C. entre os segurados em geral e entre os corretores de seguros em particular, demonstra que foi ferida uma tecla que, de ha muito, esperava a sua vez. As redugoes de premios previstas por essa Portaria baseiam-sc na melhoria da protegao preventiva contra incendios e no equipamento com materiais de extingao. Assim sendo, cmbora se trate de assunto puramente tecnico, o scu alcance sc confunde com os aspectos economicos do seguro-incendio, o que nos leva a tratar dos problemas que se ligam a tal raedida, olhando-os em sua totaiidade.
O seguro-incendio, per sua natureza, visa atender, simultaneamente, aspectos socials, economicos e nacionais: pretende proteger o segurado contra prejuizo evitavel, visa dar ao segurador um lucro c cabe-lhe evitar que a economia nacional seja, desnecessariamente, desfalcada pela destruicjao. por in cendios e explosdes, de bens patrimoniais de dificil reposigao. Tendo sempre em vista estas atribui(;oes e sua interdependencia, sera o melhor ca-
minho para se chegar ao fim de se auferir, da Portaria n," 21, os resultados mais satisfatorios para todos os interessados.
O montante de premios depende, em sua essencia, da grandeza do risco e do movimento, pelo que redugoes dc premio s6 se justificam quando baixa o risco ou quando sobe o movimento, sendo que deve ser pressuposto, tam bem, que as condi^oes economicas sejam estaveis. Ha que Icvar em conta, ainda. que os cfeitos reciprocos, entre risco e movimento, varia com a especie da determinagao do risco: na determina?ao analitica predomina a influencia do movimento: na nao analitica, a do risco, Como no Brasil existe uma la' n'/a nao analitica, o ponto de gravidade esta na redu^ao do risco, o que, desde logo, se percebe na Portaria n." 21.
A seguir estudareinos alguns pro blemas que podem ocorre na execugao da Portaria n.° 21. Nas soluqoes, foi aplicado sempre o criterio de serem atendidos os tres aspectos fundamentals do seguro-incendio.
O problema da redugao de premios noHugo Kadow Engcniieiro dc ProlegSo
Come^aremos pelo problems mais •Importantc: o seguro de valor novo. -Duas sao as raroes que podem levar o segurado a procurar segurar-se pc!o valor de novo e que predominam sobce todas as demais que possam induzi-lo a tal atitude: 1." — um perigo agudo de incendio em suas instala^oes; 2."^ um premio modesto, face a um diminuto perigo de incendio.
Toda ver que uma empresa segurada obtem uma redu^ao na taxa por ter melhorado a sua prote^ac preventiva, tal fato se reflete logo de modo favoravel para todos os interessados: o segurado, tendo que pagar menos, atualiza os valores segurados; o segurador nao sofre diminui^ao em sua receita de premios. ja que a redu?ao e compensada, e talvez superada, pelo aumento da importancia segurada; a economia nacional 6 amparada pelas melhorias introduzidas na defesa do patrimonio.
Julgamos dispensaveis mais palavras sobre o afirmado, que e obvio; entretanto reconhecemos que existem exce^oes a regra. mas como representam um problems secundario, nos rcservamos a tratar delas qiiando abordarmos esse problems.
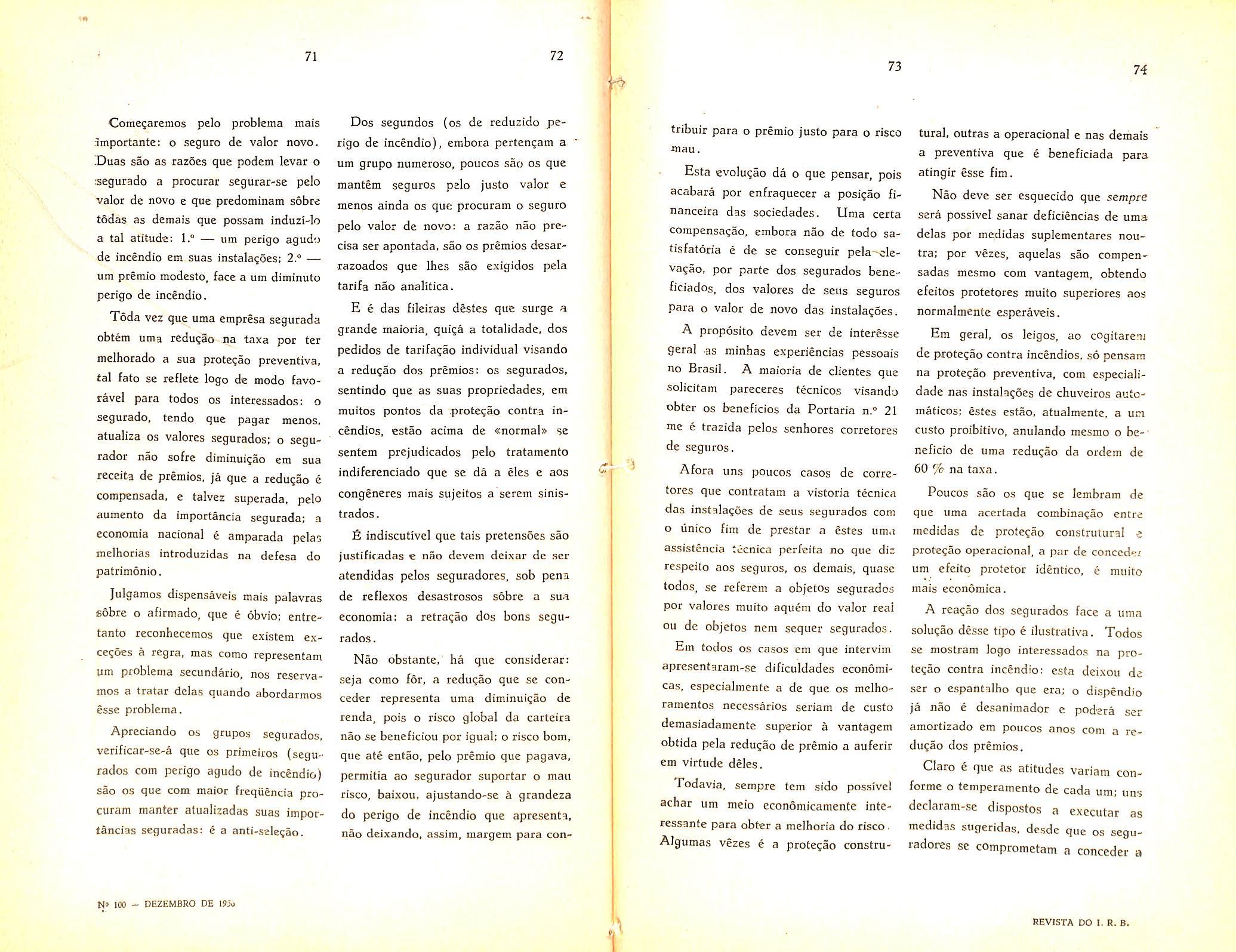
Apreciando os grupos segurados. verificar-se-a que os primeiros (segu rados com perigo agudo de incendio) sao OS que com maior freqiiencia procuram manter atualizadas suas importancias seguradas: e a anti-sele^ao.
Dos segundos (os de reduzido pe rigo de incendio), embora pertengam a ' um grupo numeroso, poucos sao os que mantem seguros pelo justo valor e menos ainda os quo procuram o seguro pelo valor de novo; a razao nao precisa ser apontada. sao os premios desarrazoados que Ihes sao exigidos pela Carifa nao analitica.
E e das fileiras destes que surge a grande maioria, quiga a totalidade, dos pedidos de tarifagao individual visando a redugao dos premios: os segurados, sentindo que as suas propriedades, em muitos pontos da .protegao contra incendios, estao acima de «normal» se sentem prejudicados pelo tratamento indiferenciado que se da a eles e aos congeneres mais sujeitos a serem sinistrados.
fi indiscutivel que tais pretensoes sao justifif.adas e nao devem deixar de ser atendidas pelos seguradores, sob pcna de reflexes desastrosos sobre a sua economia: a retragao dos bons segu rados
Nao obstante, ha que considerar: seja como for, a redugao que se concedcr represents uma diminuigao de renda, pois o risco global da carteira nao se beneficiou por igual; o risco bom, que ate entao, pelo premio que pagava, permitia ao segurador suportar o man risco, baixou, ajustando-se a grandeza do perigo de incendio que apresenta, nao deixando, assim, margem para con-
tribuir para o premio justo para o risco mau.
Esta evolugao da o que pensar, pois acabara por enfraquecer a posigao financeira das sociedades, Uma certa compensagao, embora nao de todo satisfatoria e de se conscguir pela-clevagao, por parte dos segurados bencficiados, dos valores de seus seguros para o valor de novo das instalagoes.
A proposito devem ser de interesse geral as minhas experiencias pessoais no Brasil. A maioria de clientes que solicitam pareceres tecnicos visando obter OS bencficios da Portaria n.° 21 me e trazida pelos senhores corretores de seguros.
Afora uns poucos casos de corre tores que contratam a vistoria tecnica das instalagoes de seus segurados com o linico fim de prestar a estes uma assistencia tecnica perfeita no que diz respcito aos seguros, os demais, quase todos, se referem a objetos segurados por valores muito aquem do valor real ou de objetos nem sequer segurados.
Em todos OS casos cm que intervim apresentaram-se dificuldades economicas, especialinentc a de que os melhoramentos necessaries seriam de custo demasiadamente superior a vantagem obtida pela redugao de premio a auferir em virtude deles.
Todavia, sempre fern sido possivel achar um meio economicamente interessante para obter a melhoria do risco. Algumas vezes e a protegao constru-
tural, outras a operacional e nas demais a preventiva que e beneficiada para atingir esse fim.
Nao deve ser esquecido que sempre sera possivel sanar deficiencias de uma delas por medidas suplementares noutra; por vezes, aquelas sao compensadas mesmo com vantagem, obtendo efeitos protetores muito superiores aos normalmente esperaveis.
Em geral, os leigos, ao cogitarem de protegao contra incendios, so pensam na protegao preventiva, com especialidade nas instalagoes de chuveiros autcmaticos: estes estao, atualmente, a um custo proibitivo, anulando mesmo o beneficio de uma redugao da ordem de 60 % na taxa.
Poucos sao OS que se lembram de que uma acertada combinagao entre medidas de protegao construtural a protegao operacional, a par de conceder um efeito protetor identico, e muito mais economica.
A reagao dos segurados face a uma solugao desse tipo e ilustrativa. Todos se mostram logo interessados na protegao contra incendio: esta dcixou de ser o espantalho que era; o dispendio ja nao e desanimador e podera ser amortizado em poucos anos com a rcdugao dos premios.
Clare e que as atitudes variam conforme o tempcramento de cada um; uns declaram-se dispostos a executar as medidas sugeridas, desdc que os segu radores se comprometam a conceder a
redugao cabiveh outros. se tornam entusiastas e promovem a melhoria de suas instalag5es, mesmo correndo o risco de nao se verem atendidos em suas pretensoes de um premio de seguro mais em conta, enquanto que os restantes se animam a fazer somente as obras que Ihes parecem mais importantes.
Pesquisando as razoes que possarn ter OS que executam todas as providencias independente de qualquer vaiitagem financeira, encontrei duas categorias: uns visam, com isto, obter para si a maior prote^ao possivel, porque sabem que a interrupQao de negocio nao esta coberta pelo seguro-incendio, bem come que a importa«;Io de novas maquinas, alem de demorada. so e possivel a um pre?o exorbitante; nao ignoram, outrossim, que estao com seguros insuficientes, mas acham que nao suportariam o prego de um seguro de valor de novo.
Os outros sao os advcrsarios do seguro que nao julgam razoavel que tenham compulsoriainente que contribuir para o premio dos maus riscos; estes se valem de todas as possibilidades de assegurar para si a maior seguranga possivel. conquanto nao tenham que se valer do seguro.
Como Engenheiro de Prote^ab nan desconheeo. e isto tenho sempre procurado incutir na consciencia dos recalcitrantcs. que qualquer prote^ao. por mais adcquada e estudada. que tenha side, nunca exclui o dever da reaiiza^ao do seguro-incendio. se possivel, pelo valor de novo.
A conjugagao de protegao e seguro € a linica forma que assegura teal-
mente uma tranquilidade integral, tendo em vista que sempre pode ocorrer um caso de forga-maior, ou, se quisermonos expressar em termos mais materialistas, a agao da lei do acaso.
Em conseqiiencia, consegui que alguns se deixassem convencer, por tais argumentos, a elevar as importancias seguradas; outros relutam c. so apos muitos exemplos numericos, se mostram propensos a pensar no caso.
Comentados os casos mais gerais. vejamos agora as excegoes dos maus riscos. que nos levam a urn outre problema muito interessante. Diz a Portaria n." 21 que, de acordo com o art. 16 da T. S.,I. B.. as tarifagoes individuais so poderao ser concedidas para riscos acima de «norm3is».
Entretantc. em ponto algum da T. S. I. B. ou da portaria, se define o que seja o «nsco normal» de sua classe. As.sim sendo, tudo que nao ■esteja expressamente excluido, deve ser considerado normal.
Tal situagao e prccaria, pois permits redugdes injustificadas, como. por exemplo, por extintores manuals e mangueiras que sao, apcnas. a protegao nada mais do que necessaria pan tornar o risco um risco normal.
Do ponto-de-vista da protegao. uma fabrica de moveis ocupando quatro saldes de classe duas de construgao em franca comunicagao, ainda que instale uma rede de hidrantcs. nao deve receber o mesmo desconto que uma outra subdividida em setores de incendio. For outro lado. o mesmo criterio se aplica quando uma delas tern grande produgao de poeira e na outra apenas ocorrem aparas grossas. <
Os exemplos trazidos mostram de sobejo que, se se pretende administrar com justiga a concessao dos descontos sobre a tarifa, a fim de atcnderem ao fim para o qual foram imaginados. e necessario nao so o estabelecimento do que seja «normal» como tambem -a elaboragao de um process© que permita verificar em quantos por cento a me lhoria do risco, — levando em conta a rcciprocidade de influencias entre construgao, operagao c prevengao, leva o risco para cima de «norma!».
Isto nao e tarefa facil, ja que e impossivel realiza-la sem um grande acervo de conhecimentos tecnicos e cxperiencia. Sem i.sto, pode acontecei que se conccda descontos por hidrantes em indiistria em que nao se pode aplicar agua; este exemplo mostra que nao se deve limitar o julgamento do material de extingao a suas fungoes mecanicas.
tegao construtural, a operacional e a preventiva dos riscos de todas .as classes.
d." — Para compensar o sacrificio financeiro das Sociedades representado pela redugao dos premios para os bons riscos. equitativa e justa seria a contr>apartida obvia; o aumento dos premios para os maus riscos: assim, cada um pagaria o premio realmente correspondente ao risco de suas instalagoes.
5." — Sendo fato inconteste que o premio justo induz o segurado a manter atualizada a importancia segurada, e mesmo a se decidir pelo seguro de valor de novo. e de prever que em pouco tempo a receita global de premios das Sociedades duplicara,
Do que ficou dito ate aqui, quais sao as conclusoes que se podera tirar ? Ocorrem-nos as seguintes:
1.-' — A Portaria n.'^ 21 trara a todos OS circulos interessados no seguro-in cendio grandes vantagens, dcsde que se consiga administra-la judiciosamente, resolvendo cquitativamente os pontos duvidosos.
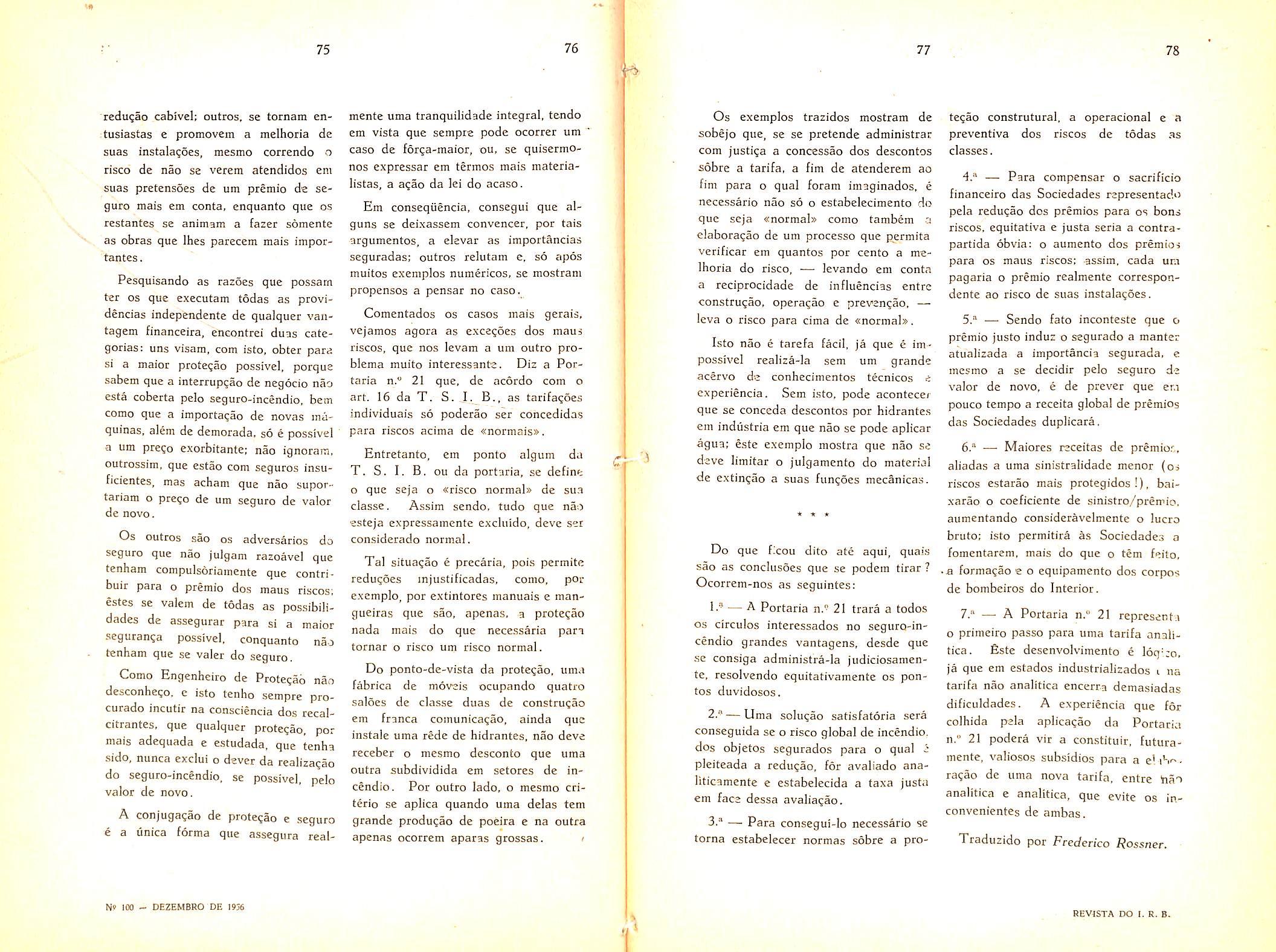
2.'' — Uma sohigao satisfatoria sera conseguida se o risco global de incendio. dos objetos segurados para o qual e pleiteada a rediiglo. for avaliado analiticamente e estabelecida a taxa justa em face dessa avaliagao.
3." — Para consegui-Io necessario se torna estabelecer normas sobre a pro-
6." — Maiores receitas de premier,. aliadas a uma sinistralidade menor (os riscos estarao mais protegidos !), baixarao o cocficiente de sinistro/premio. aumentando ccnsideravelmente o lucro brute: isto permitira as Sociedades a fomentarem, mais do que o tem feito, ■ a formagao e o equipamcnto dos corpos de bombeiros do Interior.
7." — A Portaria n." 21 represent.i o primeiro passo para uma tarifa analitica. Este desenvolvimento e l6q-;o, ja que em estados industrializados i na tarifa nao analitica encerra demasiadas dificuldades. A experiencia que for colhida pela aplicagao da Portaria n." 21 podera vir a constituir, futuramente, valiosos subsidies para a ragao de uma nova tarifa, entre Pao analitica e analitica, que evite os inconvenientes de ambas.
Desde a emissao da primeiia apolice, em 28 de abril de 1955, vem o &-eguro agricola expcrimentando um constante progresso, quer ampliando sua area geografica. atingindo novof pontos do territorio nacional, quer estendendo a cobertura a novas modalidades.
A novidade e a complexidade dos pianos de scguro vigentes e em fase de elabora^ao, incita-nos a rcsumir, nestas poucas linhas. as caracteristicas essenciais desses pianos, de forma a permitir ao interessado um primeiro contacto com um ramo de tao grande alcance para a economia nacional.
O seguro agricola comporta duas grandes divisoes: seguro pecuarlo e seguro agrario. No primeiro encontramos OS sub-ramos bovinos e equidcos. Vejamos as principals caracteristicas do Seguro Pecuario de Bovinos.
A apolice tem por base a proposta, preenchida pelo interessado, na qual sao especificadas todas as caracteris ticas do risco que deseja segurar. Entre outras informa^oes. a proposta indica a ra?a, o sexo, a idade, os sinais particulares, utiliza^ao, registro genealogico, se houver ,e o valor de cada animal.
O seguro garante uma indeniza^ao para o caso de morte do animal, provocada por acidente ou doenga, inclu sive decorrente de parto ou aborto. A indenizagao corresponde ao valor do animal no dia do sinistro, limitada,
Vanor Moura Neves
C/iefe da Carlcica de Opcrafoes Agricolas. do I. R. B. porem, a importancia scgurada. Est? representa o maximo de responsabilidade do seguradot.
O premio e cobrado de acordo com a tarifa oficial, com jurisdi(;ao sobrc todo o territorio nacional. As taxas variam em fun?ao da utilizagao e do trato. A utilizagao compreende quatro classes, conforme se destinem os ani mals a reproduQao (caso em que c exigido 0 certificado genealogico), corte. leite c trabalho, O trato compreende tres classes; «estabuIagao permanente», «estabulagao e pasto» e apenas «pasto».
A tarifa preve, alera da cobertura concedida pelas condiqoes gerais, taxas e clausulas especiais para os riscos adicionais de viagens e permanencia em expo.sigoes c postos de monta. Concede descontos nos casos de seguro de mais de 10 animais em uma mcsma Companhia e, bem assim, nas renova^oes, quando no ano anterior tenha havido um montante de indeniza^ocs inferior a 10 % dos premios pagos.
O Seguro Pecuario de Equideos. encontra-se ainda em fase de elaboraqao. Projctado pela Companhia Na cional de Seguro Agricola, o piano, vem sendo estudado pelos orgaos tecnicos do I.R.B. e das classes seguradoras ate 0 pronunciamento final do Poder Executive.
O projeto cm suas linhas gerais acompanha o piano de Bovinos e como este, se diferencia dos pianos ja utilizados pelas demais seguradoras no que toca ao risco, pois que, enquanto o novo piano se destina a rcparar os prejuizos ocasionados pels morte acidental, com restrigoes a morte natural, nos antigos nenhuma restrigao existe para o caso de morte natural.
O Seguro Agrario comporta tres grupos: os sub-ramos de culturas temporarias, os de cultura permanente c o misto.
Entre as culturas temporarias, assim chamadas por se contarcm por meses os cicios vegetativos, encontramos os subramos Trigo, Arroz e Algodao, As permanentes, cujo cicio vegetative .se conta por ano. compreendem o Cafe e a Videira. Misto e o piano especial denominado Seguro Agrario de Pcqucnas Lavouras.
A diferenga especifica entre os pianos destinados a cultura temporaria e a permanente reside no fato de a.s garantias se referircm na temporaria ao valor da colheita e na permanente ao valor da plantaqao. Por sua vez, os pianos para essas culturas diferenciamse do piano de culturas multiplas por ser este a primeiro risco, enquanto que OS outros, e tambem o de bovinos, cstabelecem a participagao proporcional de segurado e segurador, com a necessarii clausula de rateio.
Examinemos cada um dos sub-ramos dentro dos tres grupos de cultura.s temporarias, culturas permanentes e culturas multiplas.
As apolices sao emitidas com base nas informa^oes do segurado, contidas na proposta. que deve indicar a area, as epocas da semeadura e colheita, bem como o sistema empregado no cultivo da terra.
O seguro tern por fim garantir «o pagamento de uma indeniza^ao ao segu rado, correspondente a diferenqa entre a importancia segurada e o valor da colheita, calculado de acordo com o pre^o convencional previamcnte indicado, desde que tenha havido comprovadamente perda ou diminuigao de safra, causada dirctamente pela incidencia de chuvas excessivas, geadas. granizo, secas, ventos fortes e, em geral, por qualqucr fenomeno meteorologico, incendio conseqiiente de raio ou ainda por nuvens de gafanhotos».
A importancia maxima seguravel corresponde a produ?ao unitaria ma xima seguravel multiplicada pela area cia pjantagao e pelo prego convencional. As tarifas de premio variam para o trigo, arroz e algodao, a saber;
Trigo — Os riscos sao classificados sob tres aspectos:
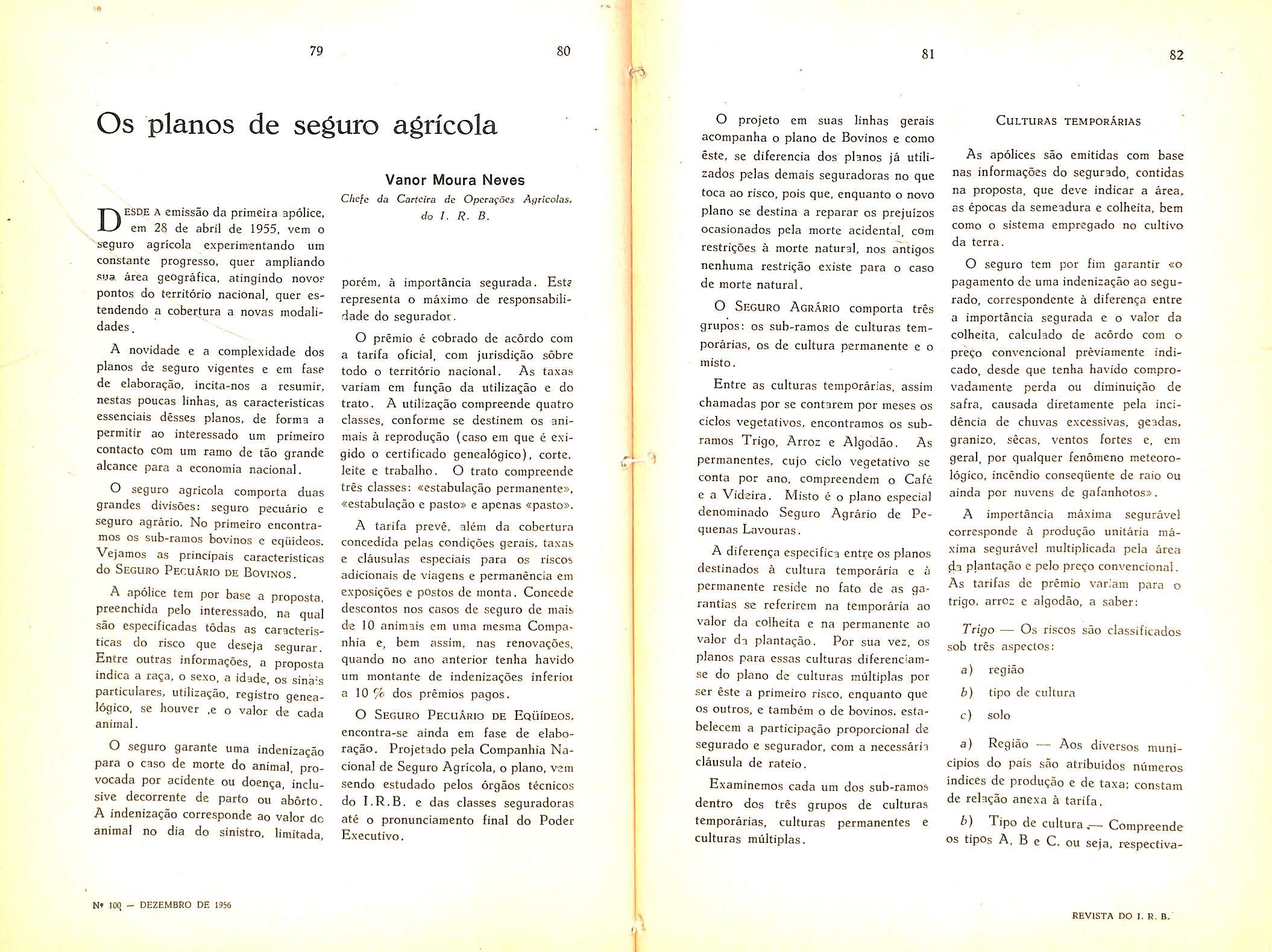
a) regiao
b) tipo de cultura
c) solo
a) Regiao — Acs divcrsos municipios do pais sao atribuidos niimercs indices de producjao c de taxa; constam de rela^ao anexa a tarifa.
b) Tipo de cultura Compreende
OS tipos A, B e C. ou seja, respectiva-
mente, as lavouras mecanizadas onde sao utilizados processes modernos e racionais de cultura, as parcialmente mecanizadas e, per fira, as que nao se podem enquadrar nos tipos anteriores.
c) Solo — Quanto a natureza dos terrenes e suas condi^oes ecologicas, sao as lavouras classificadas da seguinte forma:
Classe 1 — terras argilo-silicosas. siiico-argilosas ou argilo-calcareas, corrigidas por superfosfatos ou hiperfosfatos, com fator pH 5,1 e 6.0 ou acidcz corrigida pela calagem ou pelo enxofrc.
Classe 2 — outros tipos de solo.
A tarifa nlo admite riscos acessorios. Como na de bovinos, estabelece descontos pan lavouras que ultrapassem 50 hectares, e, na renova^ao, para aquelas que nao tenham apresentado no ano anterior prejuizo superior a 10 % do premio pago.
Acroz — Os riscos sao tarifados tendo em conta;
a) Regiao
b) Irriga?ao
c) Cultura
a) Regiao — Aos diversos municipios do pais sao atribuido.s numeros indices de produ^ao e de taxa. conforme rela^Io anexa a tarifa.
b) Irriga^ao — Compreende tres tipos: 1, 2 e 3, ou seja, respectiva mente, as lavouras irrigadas por pro cesses considerados adequados, aquelas que nao satisfa^am integcalmente as condi$6es exigidas e as nao irrigadas.
c) Cultura — Compreende os tipos
A, B e C, ou seja, respectivamente, as lavouras mecanizadas, onde sao utili zados processes modernos e racionais de cultura, as mecanizadas parcialmente e, por fim, as que nao podem enquadrar entre os tipos Ae B.
A tarifa nao admite a cobertura de riscos acessorios e concede descontos nos mesmos moldes previstos na tarifa de trigo, Algodao — O seguro de algodao restringe-se ao deiiominado «herbacco». isto e, de cultura temporaria, alias, o mais difundido no pals.
A tarifa do seguro de algodao difere da do arroz apenas por classificar o risco sob o aspecto exclusivo da regiao e da cultura.
Como vimos, o seguro agrario de trigo, arroz e algodao destina-se a cobrir a colheita. Ja no seguro de cafe e de videira o lavrador obtem a garantia de pagamento de uma indeniza^ao, desde que tenh?i havido danos nos cafeeiros ou nos vinhedos, causados diretamcnte pela incidencia de chuvas excessivas, c>eada, granizo, secas, ventos fortes e, em geral, qualquer fenomeno metcorologico ou, ainda, por incendio conseqiiente de raio.
Tambem aqui a apblice tern por base a proposta, na qual sao dadas informagocs que bem definam o risco.
A importancia maxima seguravel e representada pel© valor convencional do pe de cafe ou da videira. Consi-
dera-se como de cafe ou de videira o conjunto de plantas existentes em uma cova.
A planta^ao segurada e o conjunto de pes de cafe ou de videira plantados cm local definitive. Para o cafe, sao seguraveis as plantas de dois ou mais anos c, para a videira, as de idade superior a um ano.
As tarifas de premios sao diferentes para cafe e videira. Vejamos, resumidamente, os seus principais elcmentos:
Cafe
As taxas variam em fun^ao da «regiao» e do «tipo de cultura».
As classes por regiao oscilam entre 1 c 4, conforme a maior ou menor periculosidade apresentada. A tarifa indica a classe a que pertence cada municipio.
Os tipos de cultura classificam-se em A c B. O tipo A rcfere-se a plantagao sombrcada com efetiva prote^ao contra o vento: todas as demais enquadram-se' no tipo B.
A tarifa nao admite riscos acessorios. Concede descontos proporcionalmente ao numero maior de cafeeiros e, na renova^ao. scmpre que o montante das indenizagoes no ano precedente nao atingir 10 fc do premio pago.
za^ao. Assim, as taxas variam tambem conformc o produto seguravel se des tine a mesa ou a vinifica^ao.
O piano de Seguro Agrario de Pequena Lavoura de Cultures Miiltiplas ainda nao esta aprovado pelo Poder Executive; todavia, vamos aqui completar o esbogo de seus aspectos basicos tal como consta do projeto atualmente era estudos no Departamento Nacional de Segiiros Privados c Capitalizagao.
Como a denominagao indica o se guro destina-se a proteger os pequenos rocciros, de especial vantagem para aqueles que exploram hortas e pomares abnstccedores dos grandes centres.
A apolice bascia-se em informagoes verbals do scgurado, diferentemente dos demais sub-ramos em que a pro posta e escrita, e garante um prejuizo causado por geada, granizo, vento forte, raio, fogo c seca, ate um limite de ci'nqiienta mil cruzeiros.
As culturas seguraveis sao especificadas na apolice e abrangem 34 espec:es de lavoura, 35 de horticultura e 32 de fruticultura. Dentre essas espccies encontramos o aipim, a batata doce, o cafe, a erviiha, o figo, a laranja, a melancia, o piretro, o rami, o tomate, o tungue, a uva, etc.
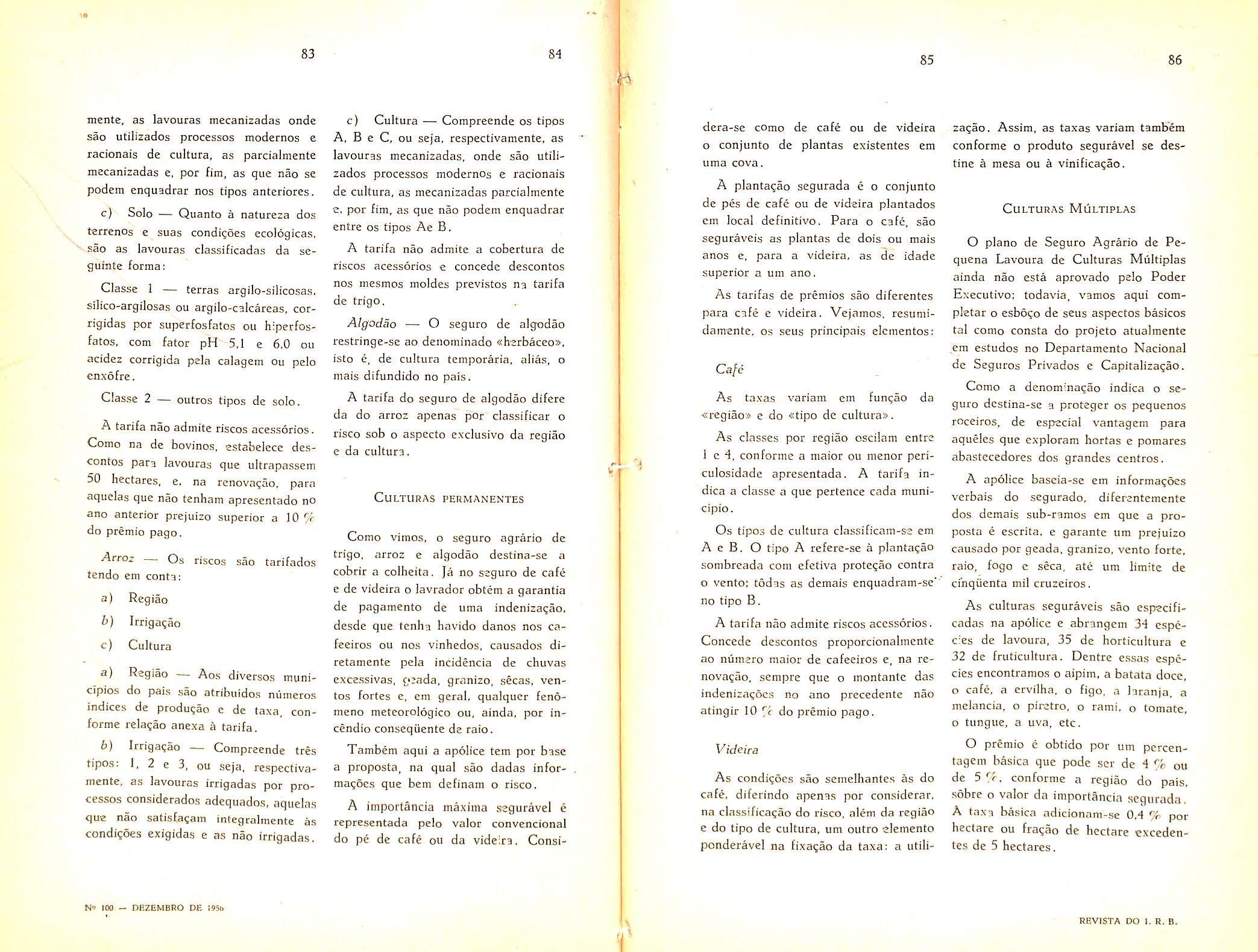
As condigoes sao semelhantes as do cafe, diferindo apenas por considerar, na classificagao do risco, alem da regiao e do tipo de cultura, um outro elemento ponderavel na fixagao da taxa: a utili-
O premio e obtido por um percentagem basica que pode scr de 4 % ou de 5'r, conforme a regiao do pais, sobre o valor da importancia segurada. A taxa basica adicionam-.se 0,4 % por hectare ou fragao de hectare excedentes de 5 hectares.
T T MA DAS mais antigas praticas na
Marinha Marcante mas gue, nao obstante, ainda apresenta ccrtos segredos para muitas pessoas interessadas, e a sciassificagao® dos navios pelas denominadas «Sociedades de Classifica?ao». O proposito dessas sociedades. algumas das quais gozara de excelente conceito, e essencialmentc o de estabeleccr padroes para a constru^ao de navios e para a sua manutengao em condi^oes satisfatorias de seguran^a, durante a opera^ao. Poderao assim os seguradores estar informados acerca das condi^oes dos navios. cujo seguro Ihes e solicitado, ou cujo carregamcnto precise ser protcgido.
O que de certo mode intriga as pessoas menos versadas nesses assuntos e a incompreensao dos motives que levam um armador, cujo principal interesse e manter suas despesas em baixo niyel, a procurar cspontaneamente uma das sociedades de classifica^ao e que, alem de incorrer em despesas de honorarios de peritos, ainda tenha a necessidade de submetcr-se a certas exigencias durante a construgao e a vida do navio que, inevitavelmente, representam para si despesas e perda de tempo.
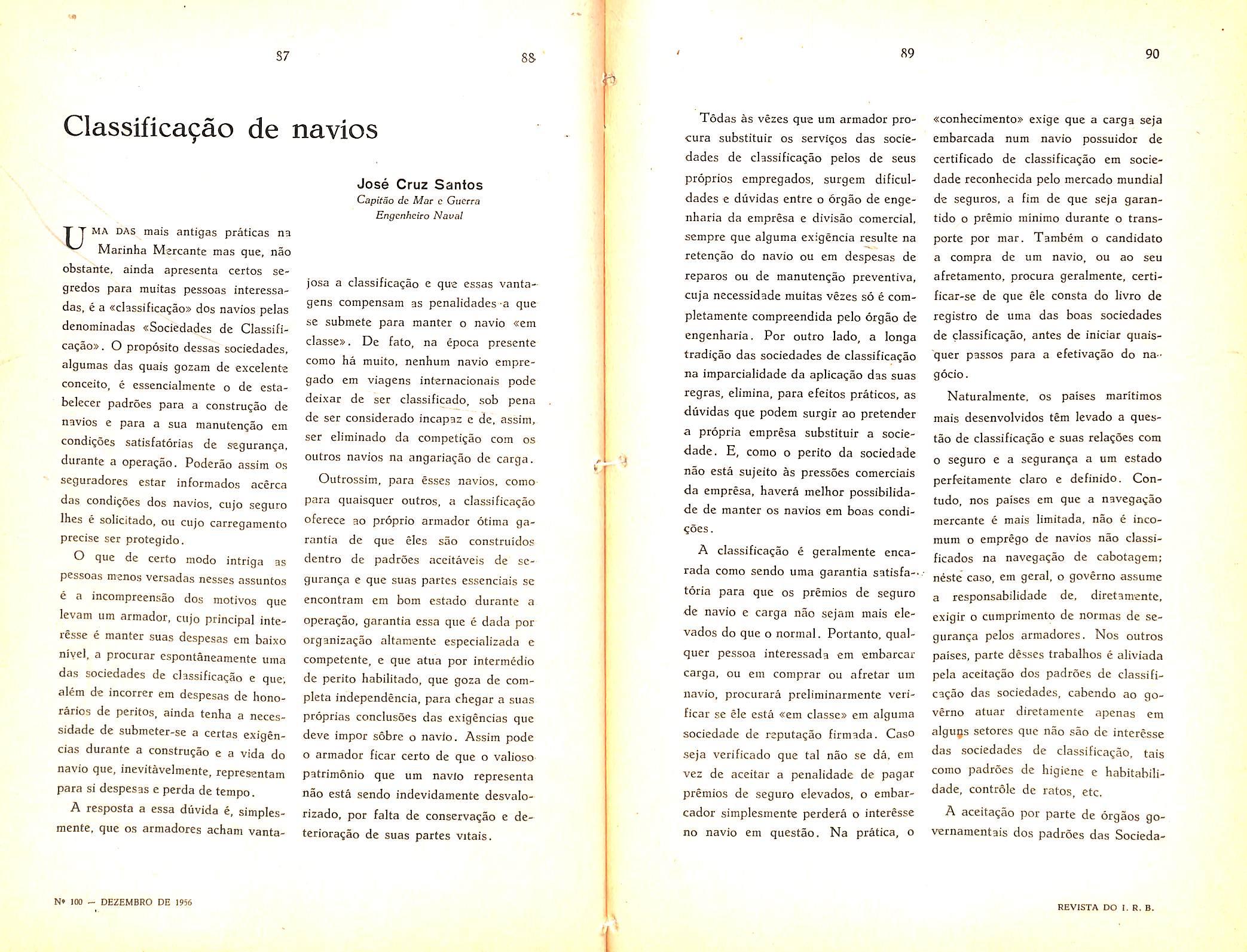
A resposta a essa diivida e, simplesmente, que os armadores acham vanta-
Jose Cruz Santos Capitao dc Mar c Gucrra Engcnhciro Navaljosa a classifica(;ao e que essas vantagens compensam as penalidades a que se submete para manter o navio «em classes. De fato, na epoca prescnte como ha muito, nenhum navio empregado em viagens internacionais pode dcixar de ser classificado, sob pena de ser considerado incapaz c dc, assim, ser eliminado da competigao com os outros navios na angaria^ao de carga.
Outrossim, para esses navios, como para quaisquer outros, a classifica^ao oferece ao proprio armador otima garantia de que eles sao construidos dcntro de padroes aceitaveis de scguranga e que suas panes essenciais se encontram em bom estado durante a operagao, garantia essa que e dada por organizagao altamente especializada e competente, e que atua por intermedio de perito habilitado, que goza de completa independencia, para chegar a suas proprias conclusoes das exigencias que deve impor sobre o navio. Assim pode o armador ficar certo de que o valioso patrimonio que um navio representa nao esta sendo indevidamente desvalorizado, por falta de conservagao e deterioragao de suas partes vitais.
Todas as vezes que um armador procura substituir os servigos das socie dades de classificagao pelos de sens proprios empregados, surgem dificuldades e duvidas entre o orgao de engenharia da empresa e divisao comercial, scmpre que alguma exigencia resulte na retengao do navio ou em despesas de reparos ou de manutengao preventiva, cuja necessidade muitas vezes so e completamente compreendida pelo orgao de engenharia, Por outro lado, a longa tradigao das sociedades de classificagao na imparcialidade da aplicagao das suas regras, climina, para efeitos praticos, as duvidas que podem surgir ao pretender a propria empresa substituir a sociedade. E, como o perito da sociedade nao esta sujeito as pressSes comerciais da empresa, havera melhor possibilidade de manter os navios em boas condigoes.
A classificagao e geralmente encarada como sendo uma garantia satisfatoria para que os premios de seguro de navio e carga nao sejam mais elevados do que o normal. Portanto, qualquer pessoa interessada cm embarcar carga, ou em comprar ou afretar um navio. procurara preliminarmente verificar se ele esta «em classes em alguma sociedade de reputagao firmada. Caso seja verificado que tal nao sc da, em vez de aceitar a penalidade de pagar premios de seguro elevados, o embarcador simplesmente perdera o interesse no navio cm questao. Na pratica, o
«conhecimento» exigc que a carga seja embarcada num navio possuidor de certificado de classificagao em socie dade reconhccida pelo mercado mundial de seguros, a fim de que seja garantido o premio minimo durante o transportc por mar. Tambem o candidate a compra de um navio, ou ao seu afretamento, procura geralmente, certificar-se de que ele consta do livro de rcgistro de uma das boas sociedades de classificagao, antes de iniciar quais quer passes para a efetivagao do nagocio.
Naturalmente, os paises marltimos mais desenvolvidos tem Icvado a ques tao de classificagao e suas relagoes com 0 seguro e a seguranga a um estado pcrfeitamentc claro e definido. Contudo, nos paises em que a navegagao mercante e mais limitada, nao e incomum o emprego dc navios nao classificados na navegagao de cabotagem; neste caso, em geral, o governo assume a responsabilidade de, diretamentc, exigir o cumprimento de normas de se guranga pelos armadores. Nos outros paises, parte desses trabalhos e aliviada pela aceitagao dos padroes de classifi cagao das sociedades, cabendo ao go verno atuar diretamente apenas em algugs setores que nao sao de interesse das sociedades de classificagao, tais como padroes de higiene e habitabilidade, controle de rates, etc.
A aceitagao por parte de orgaos governamentais dos padroes das Socieda-
des de Classifica^ao da-lhes graiide prestigio e serve como estimulo aos armadores para a ado^ao das suas regras. Nos Estados Unidos, por exempld, os navios classificados com o American Bureau of Shipping sao considerados como pertencentes «a mais alta qualidade conhecida no comercio maritimo», no que se refcre ao gozo dos privilegios concedidos por lei a tais navios. Tambem, e coraum ser concedida a uma sociedade o privilegio de conceder certificados baseados era exigencias de convengoes internacionais, em nome do governo de um determinado pais.
De acordo com os termos das convengoes, a responsabilidade da concessao do cert:ficado e scmpre do go verno, de inodo que a Sociedade de classificagao nesses casos atua apena.s em nome do governo em questao, Reccntemente, por exemplo, tendo o Brasil ratificado a Convengao Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, foi concedida, a titulo precario. ao American Bureau of Shipp ing, autoridade para emitir certificados. em nome do Governo Brasiieiro, ba seados naquela convengao, para os navios brasileiros erapregados em viagens internacionais e classificados nar quele Bureau. Na realidade isso atinge apenas os vinte navios tipo Loide. construidos em 1947 nos Estados Unidos, que sao praticamentc os unicos navios brasileiros empregados em longo curso. fisse privilegio, assim como semelhante concessao relativa a Certificados de Borda Livrc. esta sendo usado para a obtengao dos certificados necessaries
aos navios que ,o Governo Brasiieiro acaba de comprar para a Companhia Nacional de Navegagao Costeira. e que estao sendo «reativados» nos Es tados Unidos.
A proposito desscs navios. pode ser citado um exemplo interessante de atuagao de sociedade de classificagao no sentido de proteger credor hipotecario: Como os navios forara comprados sob hipoteca, tendo sido feito apenas o pagamcnto inicial de 25 /c do prego de vcnda, com o restante financiado pelo Governo Norte Americano, faz parte do contrato de hipoteca que OS navios dcverao ser mantidos na «inais alta classe e grau para navios de mesma idade e tipo no American Bureau of Shipping ou numa sociedade de classi ficagao cstrangcira de c.vigencias equivalentes».
As sociedades de classificagao surgiram pela necessidadc de terem os seguradores informagoes acerca dos navios envolvidos nos seguros que eram solicitados a aceitar. Tais informagoes eram nccessarias, como o sao hojc em dia. para que fosse possivel julgar dos riscos envolvidos no scguro, A primeira das sociedades foi o Lloyd's Re gister of Shipping que surgiu na famosa Lloyd's Coffee House de Londres, onde OS seguradores se reuniam para realizar OS seus negocios. O «Register» continha inicialmente os dados dos navios, OS nomes dos comandantes e armado res mas, naturalraente, como tiido o mais, tem evoluido muito nos duzentos anos de sua vida.
Dada a semelhanga de nomes entre
0 Lloyd's Register e os seguradores
Lloyd's de Londres, ha certa confusao quanto as duas organizagoes e o Lloyd's Register e muitas vezes erroneamente considerado como uma companhia de seguros. Contudo as duas organizagoes referidas sao inteiramente independentes ainda que, o Lloyd's de Londres, romo segurador, use os servigos da so ciedade de classificagao.
O Lloyd's Register publicou sua primeira lista de navios em 1760 e, desde entao, tem passado por varias fases ate o dia presente. Assim. e que, em 1799, apareceu um registro «vermelho» para diferengar do registro «verde» do Lloyd's Register, que, alias, ainda hoje e desta cor, sob a nlegagao de que esta ultima sociedade estava tendendo a considerar a classe dos navios unicamente Icvando em conta o local de construgao e o niimero de anos de vida do navio. Mais tarde os dois registros foram fundidos (1833), depois de acusagoes de parcialidade a ambos. tendo sido entao decidido classificar os navios conforme seu proprio merito, sem a consideragao de fatores subjetivos. tendo sido retirada dos peritos a prerrogativa de concederem eles proprios a classe, passando esta a ser dada por um comite, depois dc examinar todos OS dados pertinentes, inclusive os relatorios dos peritos.
Contudo, por interessante que seja a historia das sociedades de classificagao e por intimamente ligada que esteja a evolugao dos navios, que, de madeira e a vela, passaram para ago e estao no limiar de propulsao atoraica, nao pretende o autor entrar nesse assunto, parecendo contudo que aos leitores
interessara saber que o livro de registromais antigo em e.xistencia e o de 1764, que se encontra em Londres. As outras sociedades hoje em atividade e que merecem s-er mencionadas sao o Bureau Veritas (1828), o Registro Italian© (1861), o American Bureau of Shipping (1864). 0 Registro Noruegues (1864) e o Registro Alemao (1867).
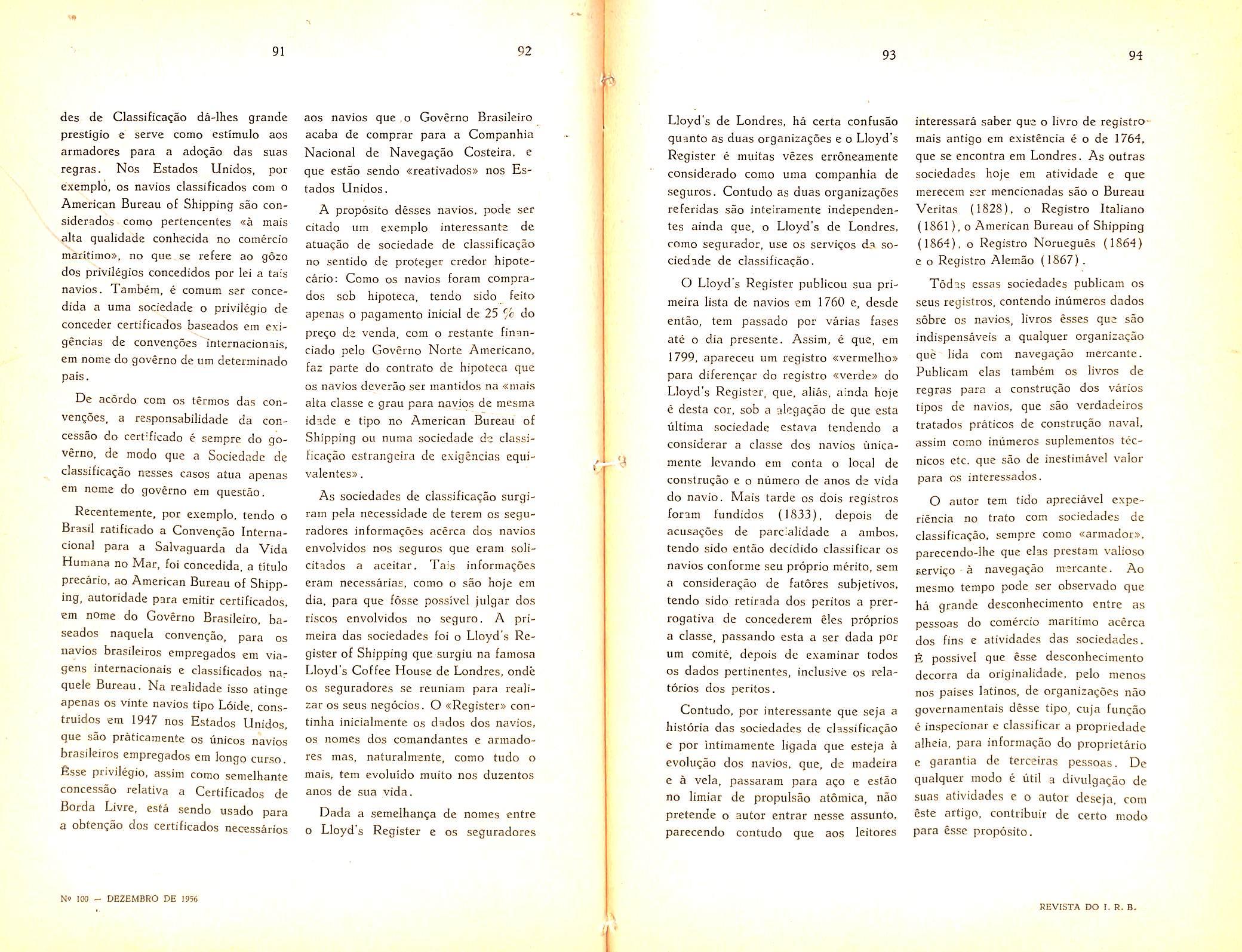
Todes cssas sociedades publicam os seus registros, contend© inumeros dados sobre os navios, livros esses que sao indispensaveis a quaiquer organizagao que lida com navegagao mercantc. Publicam elas tambem os livros de regras para a construgao dos varios tipos de navios, que sao verdadeiros tratados praticos de construgao naval, assim como inumeros suplementos tecnicos etc. que sao de inestimavcl valor para os interessados.
O autor tem tido apreciavel experiencia no trato com sociedades de classificagao. sempre como «armador», parecendo-ihe que elas prestam valioso servigo - a navegagao mercante. Ao mcsmo tempo pode ser observado que ha grande desconhecimento entre as pessoas do comercio maritimo acerca dos fins e atividades das sociedades. fi possivel que esse desconhecimento decorra da originalidade. pelo nienos nos paises latinos, de organizagoes nao govcrnamentais desse tipo, cuja fungao e inspecionar e classificar a propriedadc alheia, para informagao do proprietario e garanfia de terceiras pessoas. De quaiquer modo e util a divulgagao de suas atividades e o autor deseja, com este artigo. contribuir de certo modo para esse proposito.
INTRODUgAO
CONSULTANDO OS varios autores que cuidam dos problemas de pessoal, vemos que as expressoes «avalia?ao da eficiencia» e «apura?ao do mereciniento»
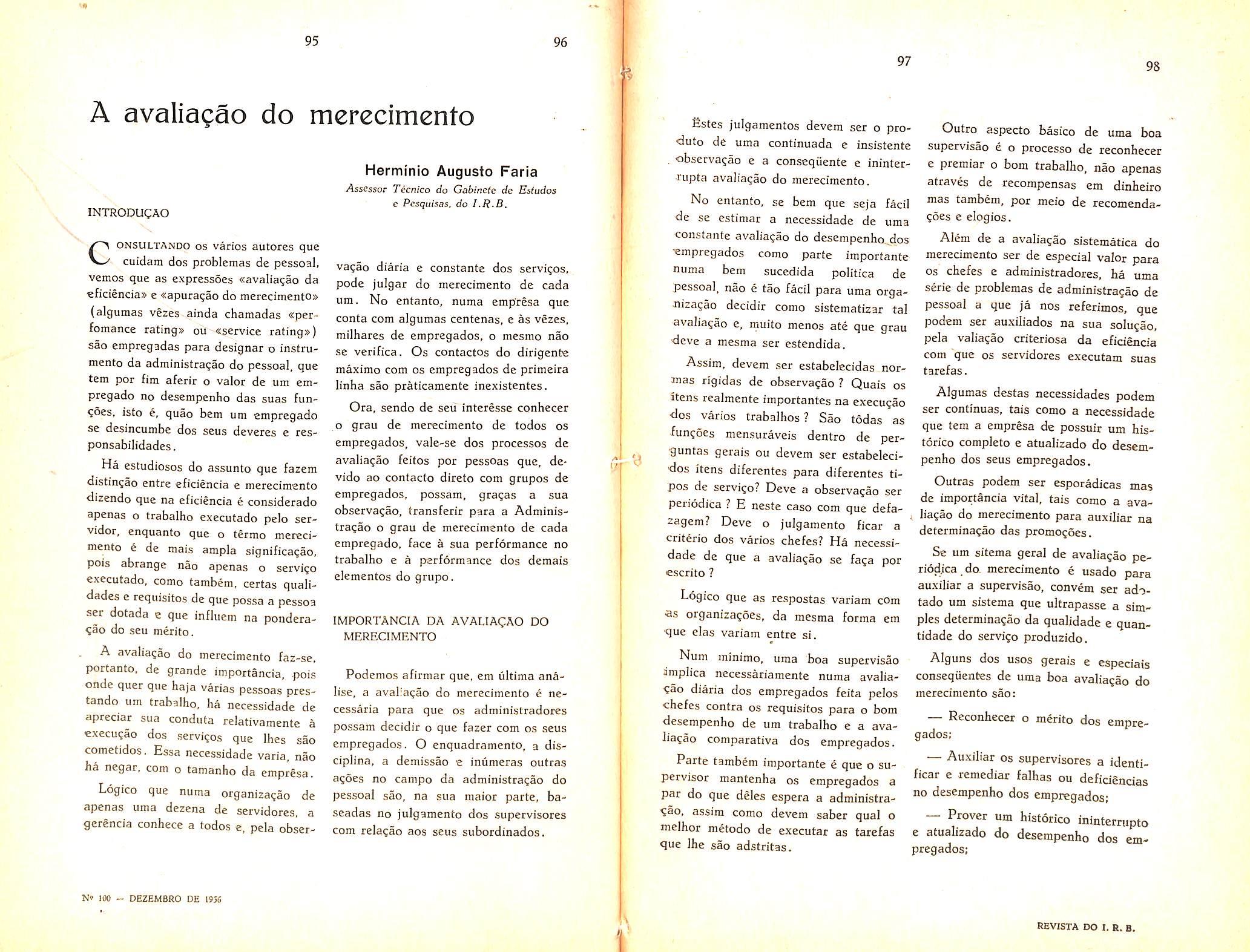
{algumas vezes ainda chamadas «perfomance ratings ou ^service ratings) sao empregadas para designar o instrumento da administra^ao do pessoal, que tem por fim aferir o valor de um empregado no desempenho das sues fun^oes. isto e. quao bem um empregado sc desincumbe dos seus deveres e responsabilidades.
Ha estudiosos do assunto que fazem distin?ao entre eficiencia e merecimento dizendo que na eficiencia c considerado apenas o trabalho executado pelo servidor, cnquanto que o termo mereci mento e de mais ampla significa^ao, pois abrange nao apenas o service executado, como tambem, certas qualidades e requisitos de que possa a pessoa ser dotada e que influem na ponderaqao do seu merito.
A avalia^ao do merecimento faz-se, portanto. de grande importancia, pois onde quer que haja varias pessoas prestando um trabalho, ha necessidade de apreciar sua conduta reiativamente a execu?ao dos servigos que Ihes sao cometidos. Essa necessidade varia, nao ha negar, com o tamanho da empresa.
Logico que numa organizaijao de apenas uma dezena de servidores, a gerencia conhecc a todos e, pela obser-
va?ao diaria e constante dos servi^os, pode julgar do merecimento de cada um. No entanto, numa empresa que conta com algumas centenas, e as vezes, milhares de empregados, o mesmo nao se verifica. Os contactos do dirigente maximo com os empregados de primeira linha sao praticamente inexistentes.
Ora, sendo de seu interesse conhecer o grau de merecimento de todos os empregados, vale-se dos processes de avalia^ao feitos por pessoas que, devido ao contacto direto com grupos de empregados, possam, gramas a sua observa^ao, transferir para a Administra^ao o grau de merecimento de cada empregado. face a sua performance no trabalho e a performance dos demais elementos do grupo.
Podemos afirmar que, em ultima analise, a avaliagao do merecimento e necessaria para que os administradores possam decidir o que fazer com os seus empregados. O enquadramento, a disciplina, a demissao e imimeras outras a^oes no campo da administra^ao do pessoal sao, na sua maior parte, baseadas no julgamento dos supervisores com relagao aos seus subordinados.
fistes julgamentos devem ser o pro•duto de uma continuada e insistente . observa^ao e a conseqiiente e ininterJupta avaliagao do merecimento.
No entanto, se bem que seja facil de se estimar a necessidade de uma constante avaliagao do desempenho„dos ■empregados como parte importante numa bem sucedida politica de pessoal, nao e tao facil para uma orgaJiizagao decidir como sistematizar tai avaliagao e, rnuito menos ate que grau deve a mesma ser estendida.
Assim, devem ser estabelecidas .nor3nas rigidas de observacao ? Quais os itens realmente importantes na execu^ao dos varios trabalhos ? Sao todas as fun?6es mensuraveis dentro de perguntas gerais ou devem ser estabelecidos itens diferentes para diferentes tipos de serviijo? Deve a observa?ao ser periodica ? E neste caso com que defazagem? Deve o julgamento ficar a criterio dos varios chefes? Ha necessi dade de que a avalia^ao sc faga por escrito ?
Logico que as respostas variam com as organizagoes, da mesma forma em que elas variam entre si.
« Num minimo, uma boa supervisao amplica necessariamente numa avalia■?ao diaria dos empregados feita pelos chcfes contra os requisitos para o bom desempenho de um trabalho e a avaliacao comparativa dos empregados.
Parte tambem importante e que o su pervisor mantenha os empregados a par do que deles espera a administra^ao, assim como devem saber qual o melhor metodo de executar as tarefas que Ihe sao adstritas.
Outro aspecto basico de uma boa supervisao e o processo de reconhecer e premiar o bom trabalho, nao apenas atraves de recompensas em dinheiro mas tambem, por meio de recomendagoes e elogios.
Alem de a avalia^ao sistematica do merecimento ser de especial valor para OS chefes e administradores, ha uma serie de problemas de administragao de pessoal a que ja nos referimos. que podem ser auxiliados na sua solucao, pela valiagao criteriosa da eficiencia com que os servidores executam suas tarefas.
Algumas destas necessidades podem ser continuas, tais como a necessidade que tem a empresa de possuir um historico complete e atualizado do desem penho dos seus empregados.
Outras podem ser esporadicas mas de importancia vital, tais como a ava, lia?ao do merecimento para auxiliar na determinagao das prOmo^oes.
Se um sitema geral de avaliagao pe riodica,do. merecimento e usado para auxiliar a supervisao, convem ser adotado um sistema que ultrapasse a sim ples determinagao da qualidade e quantidade do service produzido.
Alguns dos usos gerais e especiais consequentes de uma boa avalia?Io do merecimento sao:
— Reconhecer o merito dos empre gados:
— Auxiliar os supervisores a identificar e remediar falhas ou defidencias no desempenho dos empregados;
— Prover um historico ininternipto e atualizado do desempenho dos em pregados;
— Servir como um guia para promoqoes, dispcnsas. transferencias, remo^oes, a?6es contra empregados, etc.;
— Para identificar os empregados que devem ser submetidos a treinamento especifico;
'— Como evidencia nos casos de deniincia c agravo;
— Como um exame no progresso do treinamento de supervisores ou chefes;
— Como confronto para aferir da perfeigao dos padroes de execu<ao estabelccidos:
•— Como exame na exatidao da classificacao dos cargos e fun^oes bem como da descri^ao dos trabalhos;
— Como evidencia da validade dos testes e provas para a seletjao, bem como dos processos de recrutamenfo.
A despeito dos inumeros proces«os experimentados para avaliagao do morecimento, nao ha ainda um que reina 0 concenso unanime dos tecnicos em pessoa!. E. a principal dificuldade es'd exatamente no fato de que o julgamento tern de se fundar em clemeatc-s de duas naturezas; objetivos e subjctivos. Dai o pcssimismo de algurs autores, John M. Pfiffner escreveur «Nao ha, provavelmente, campo quoferega mais agudo conflito entre a feoria e a pratica do que o que diz respeito a apura^ao do merecimento.
A teoria diz que seria excelente apurar o mereciraento dos empregados, de acordo com o seu valor e desem-
penho das fun^oes. Com isso concorda a administra?ao, assim como os empre gados- Mai, porem. se tenta por a ideia em execu^ao, e ela bloqueada ou a su r eficacia e reduzida por obstaculos quase insuperaveis».
Os obstaculos a uma adequada solu?ao do problema da avalia^ao do merecimento sao na sua maior p.arte fruto do subjetivismo a que tal julgamento esta sujeito, apesar de toda a tecnica na confec^ao dos boletins de merecimento ou na escolha dos Itens. para screm apreciados.
Impressionados com isso ha autores que se mostram tao pessimistas a ponta de condenar tal avaliagao. Alias euire estes podemos citar Harvey "Walker da Universidade de Ohio e de quern tivemos a honra de ser aluno. o qual no seu livro «Public Administration in the United States» afirma literalmente: «Os sistemas menos eficientes sao olhados com desconfianga pelos em pregados e. provavelmente, e mellior nao ter sistema algum do que ter um que produza resultados nos quais a. maioria dos empregados nao deposite confian?3».
Tal opiniao, no entanto, nao e aceita per uma grande maioria pois se como vimos anteriormente, a maior parte dos atos relatives a pesoal cstao direta ou indiretamente fundamentados por uma boa avaliagao do merecimento, pareccnos mais razoavel que se procure, dentro das possibilidades eliminar ou pelo menos neutralizar as atitudes negatives do subjetivismo.
A escolha dos itens a serem apre ciados: a divulga^ao dentre os emprc-
gados do que deles espera a administra?ao; o treinamento dos que vao julgar; um balanceamento criterioso nos julgaraentos: um refor^o na nogao de responsabilidade seja no5' que vao julgar, bem como nos que vao ser julgados, a fim de que .se restrinjam a analise fria e honesta dos elementos; a percepcao por parte de todos do que representa para cada um em particular e para a empresa em geral, uma classificagao tao verdadeira quanto possivel do quanto de esforco e dedicagao cada empregado dispenda; e mais inumeras outras razoes, far-ncs-;a.r. tender para a opiniao expressa per Mosker, KingsJey e Stahl: «Em conclusao. e francaraente reconhecido que os sistemas de apura^ao ou avalis^ao do merecimento se rcvelaram, no passado, acima de tudo, rudimentares e imperfeitos pro cessos de aprecia^ao e registro dc aptidoes e habitos de trabalho.
Desde, porem, que eles sao prcferiveis a julgamentos nao escritos formulados 'individualmente pelos aclministradores, a administragao de pesoal deve aceitar o dcsafio da situacao e fazer por desenvolver instrumentos mais adequados e uteis».
Alias, difo por outras palavras. encontramos em Personnel Management de Scott, Clothier, Mathewson e Spriegel; «Acredito que praticamente e.xperimentamos todos os tipos de .-listenia de apura^So de merecimento que .iDarecerara, Nem um deles se rcvelou inteiramente satisfatorio e qualquei v m e, sem sombra de duvida, melhor do que nad3».
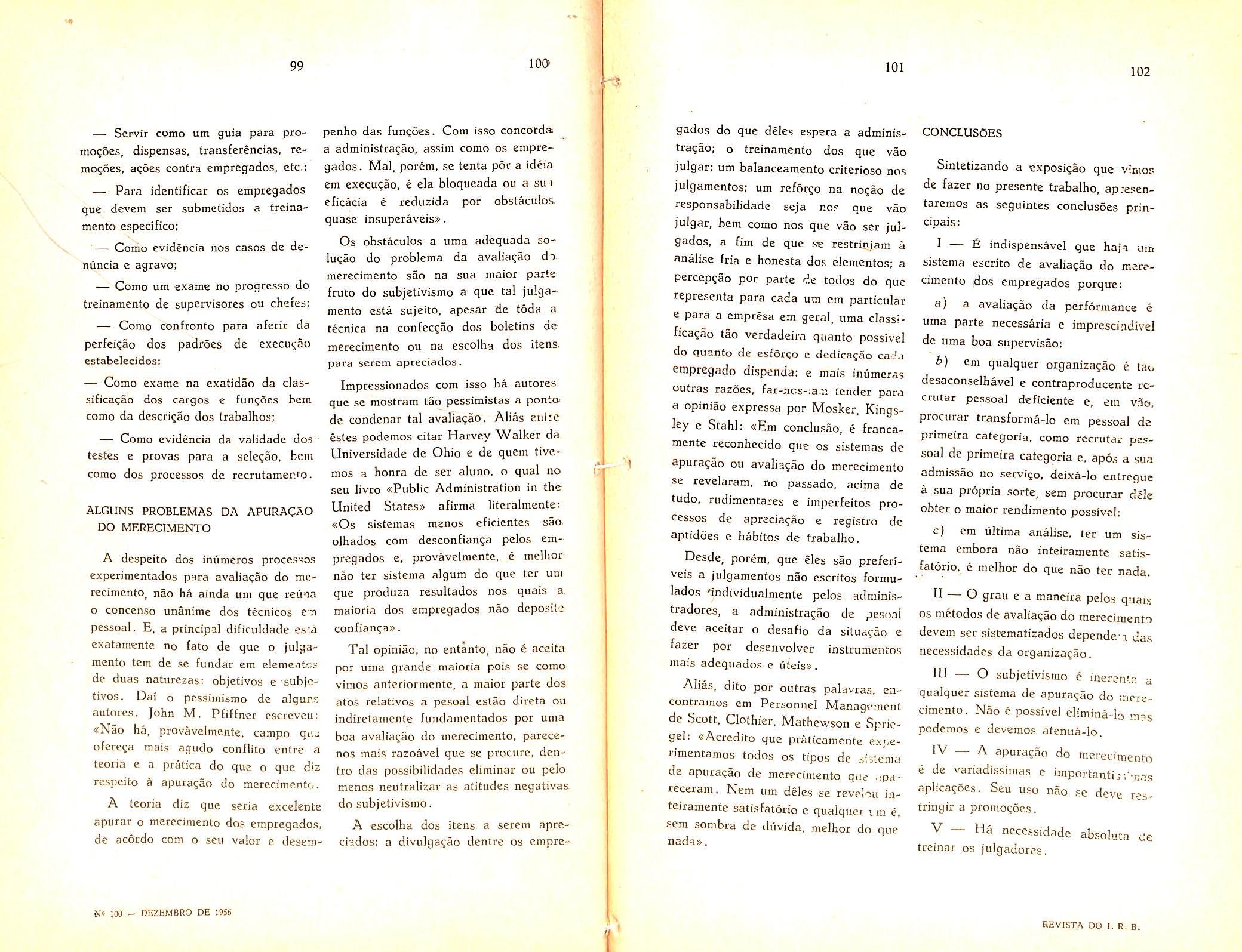
Sintetizando a exposigao que vimos de fazer no presente trabalho, ap.-esentaremos as seguintes conclusoes prin cipals:
I — indispensavel que haja um sistema escrito de avaliaqao do mere cimento dos empregados porque;
a) a avalia^ao da performance e uma parte necessaria e imprescindivel de uma boa supervisao:
em qualquer organizagao e tao desaconselhavel e contraproducente rccrutar pessoal deficiente e, em v3o, procurar transforma-lo em pessoal de primeira categori-a, como recrutar ,Dessoal de primeira categoria e, apos a sua admissao no scrvigo, deixa-lo enlrcgue a sua propria sorte, sem procurar dele obter o maior rendimento possivel;
c) em ultima analise, ter um sis tema embora nao inteiramente satis fatorio. e melhor do que nao ter nada.
II — O grau e a maneira pelos quais OS metodos de avaliagao do merecimento devem ser sistematizados depende i das necessidadcs da organizagao.
III — O subjetivismo e inerenic a qualquer sistema de apuragao do mere cimento, Nao e possivel eiimina-b mas podemos e devemos atenua-lo.
IV — A apuragao do merecimento e de variadissimas c importantij r-n.-js aplicagoes. Seu uso nao se deve restringir a promogocs.
V — Ha nece.ssidade absoluCa tie treinar os julgadores,
TRABALHO APRESENTADO A II CONPERBNCIA INTERNACIONAL DE MANIPULAQAO DE C^1?G^S — NAPOLES. 1954
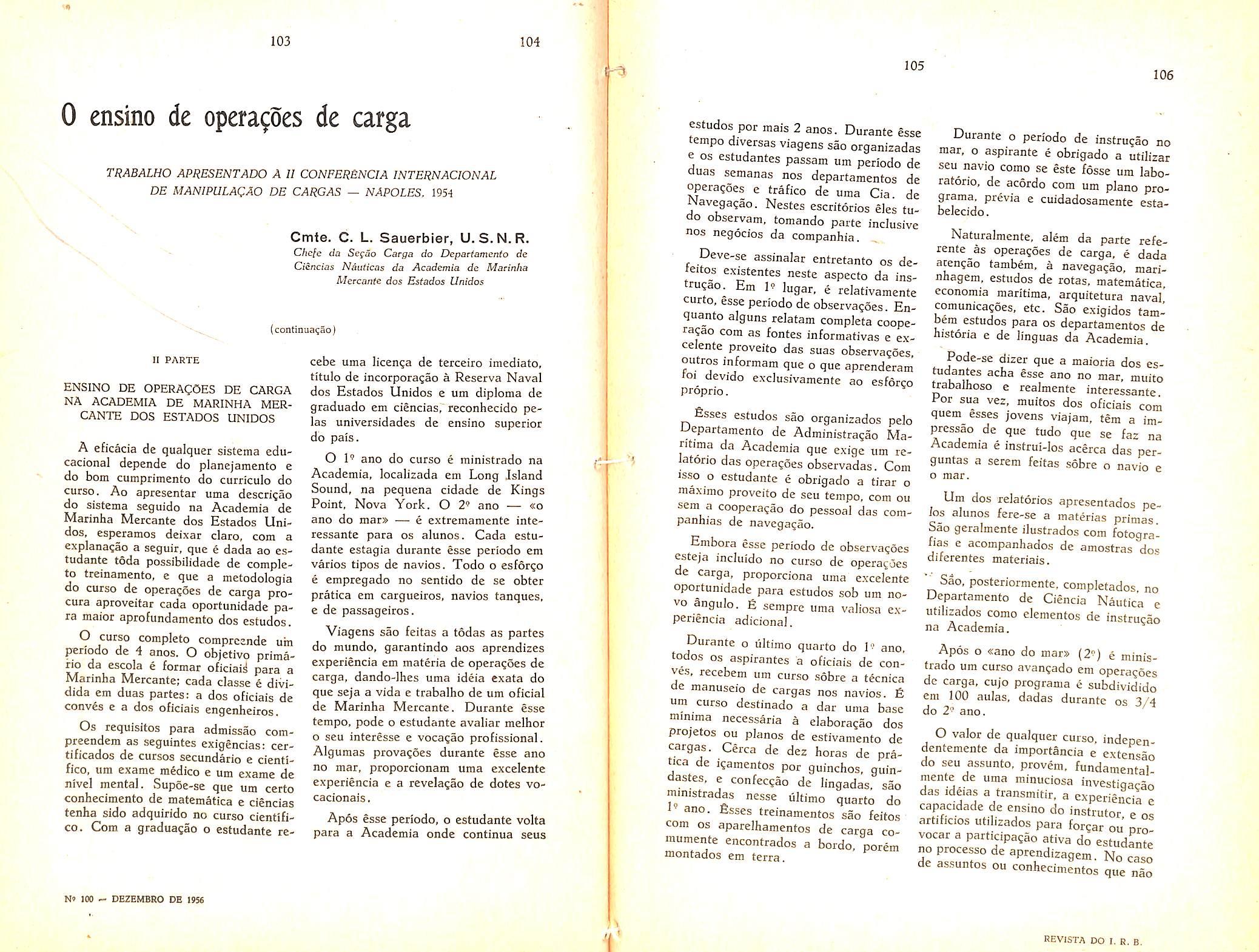
estudos por mais 2 anos. Durante esse tempo diversas viagens sao organizadas e OS estudantes passam um periodo de duas semanas nos departamentos de operagoes e trafico de uma Cia. de Navega?ao. Nestes escritorios eles tuo ooservam. tomando parte inclusive nos negocios da companhia.
Durante o periodo de instrunao no mar, o aspirante e obrigado a utilizar seu navio como se este fosse um laboratorio, de acordo com um piano programa, previa e cuidadosamente estabelecido.
II PARTE
ENSINO DE OPERACOES DE CARGA NA ACADEMIA DE MARINHA MER CANTE DOS ESTADOS UNIDOS
A eficacia de quaiquer sistema educacional depende do planejamento e do bom cumprimento do curriculo do curso. Ao apresentar uma descri^ao do sistema seguido na Academia de Marinha Mercante dos Estados Uni dos, esperamos deixar claro, com a explanaglo a seguir, que e dada ao estudante toda possibilidade de comple te treinamento, e que a metodologia do curso de opera?oes de carga procura aproveifar cada oportunidade pa ra maior aprofundamento dos estudos.
O curso completo comprcende um periodo de 4 anos. O objetivo prima- rio da escola e format oficiai^ para a Marinha Mercante; cada classe e dividida cm duas partes: a dos oficiais de conves e a dos oficiais engenheiros.
Os requisites para admissao compreendem as seguintes exigencias: certificados de cursos secundario e cientifico, um exame medico e um exame de nivel mental. Supoe-se que um certo conhecimento de matematica e ciencias tenha side adquirido no curso cientlfico. Com a gradua?ao o estudante re-
cebe uma licen^a de terceiro imediato, titulo de incorpora?ao a Reserva Naval dos Estados Unidos e um diploma de graduado cm ciencias," reconhecido pelas universidades de ensino superior do pais.
O 1' ano do curso e ministrado na Academia, localizada em Long island Sound, na pequena cidade de Kings Point, Nova York. O 2' ano — «o ano do mar» — e extremamente interessante para os alunos. Cada estu dante estagia durante esse periodo em varios tipos de navios. Todo o esfor^o e empregado no sentido de se obter pratica em cargueiros, navios tanques, e de passageiros.
Viagens sao feitas a todas as partes do mundo, garantindo aos aprendizes experiencia em materia de opera^oes de carga, dando-lhes uma ideia exata do que seja a vida e trabalho de um oficial dc Marinha Mercante. Durante esse tempo, pode o estudante avaliar melhor o seu interesse e voca^ao profissional.
Algumas prova^oes durante esse ano no mar. proporcionam uma excelente experiencia e a revela?ao de dotes vocacionais.
Apos esse periodo, o estudante volta para a Academia onde continue seus
Deve-se assinalar entretanto os deteito_s cxistentes neste aspecto da ins^ruqao. Em 1^ lugar. e relativamente curto, esse periodo de observances. Enquanto alguns relatam completa cooperapo com as fontes informativas e ex celente proveito das suas observances outros informam que o que aprenderam toi devido exclusivamente ao esforco proprio.
fisses estudos sao organizados pelo epartamento de Administranao Mantima da Academia que exige um reJatono das operanoes observadas. Com isso o estudante e obrigado a tirar o maximo proveito dc seu tempo, com ou sem a cooperanao do pessoal das companhias de naveganao.
Embora esse periodo de observances esteja jncluido no curso de operanoes de carga, proporciona uma excelente oportunidade para estudos sob um novo angulo. fi sempre uma valiosn ex periencia adicional.
Durante o ultimo quarto do r> ano. todos OS aspirantes a oficiais de con ves, recebem um curso sobre a tecnica de manuseio de cargas nos navios. um curso destinado a dar uma base minima necessaria a elaboranao dos projetos ou pianos de estivamento de cargas. Cerca de dez horas de pra tica de inainentos per guinchos. quindastes, e confecnao de lingadas. sac
mmistradas nesse ultimo quarto do • ano. Esses treinamentos sao feito,s com OS aparelhamentos de carga coinumente encontrados a bordo. porem montados em terra.
Naturalmente, alem da parte referente^as operanoes de carga. e dada acennao tambem, a naveganao, marinhagem, estudos de rotas, matematica, economia maritiraa, arquitetura naval comunicanoes, etc. Sao exigidos tam bem^ estudos para os departamentos de histona e de linguas da Academia.
Pode-se dizer que a maioria dos es tudantes acha esse ano no mar. muito ^abalhoso e realmente intcressante For sua vez, muitos dos oficiais com quem^ esses jovens viajam, tern a imprcssao de que tudo que se faz na Academia e instrui-Ios acerca das perguntas a serem feitas sobre o navio e 0 mar.
Um dos relatorios apresentados pelos alunos fere-se a materias primas Sao geralmente ilustrados com fotografias e acompanhados de amostras do« diferentes materials.
_ Sao. posteriormente, completados no Departamento de Ciencia Nautica e utilizados como elementos de instrucao na Academia.
Apos o «ano do mar» (2^) e minis trado um curso avangado em operagoes de carga. cujo programa e subdividido em 100 aulas, dadas durante os 3/4 do 2" ano.
O valor de quaiquer curso. independentemente da importancia e extensao do seu assunto, provera. fundamental mente de uma minuciosa investigagac das ideia.s a transmitir, a experiencia e capacidade de ensino do instrutor, e os artificios utilizados para forgar ou pro! vocar a participagao ativa do estudante no processo de aprendizagem. No caso de as,suntos ou conhecimentos que nao
tenham sofrido grandes modifica^oes atraves dos seculos, geralmente nao ha problemas de atualiza^ao de metodologias ou sistemas de ensino.
Quando se trata porem de um assunto que envolve tecnicas novas, como e o caso de operagoes de carga, os programas de ensino, a exemplo do que acontece na Escola da Marinha Mercante dos Estados Unidos, estao sujeitos a constantcs aperlei?oamentos. Tentamos despertar intcresses, dando Tclevo aos topicos, esclarecendo e ressaltando a importancia das operagoes de carga. para o oficial, para o armador, para o embarcador e para toda a industria.
Pode parecer que esse ultimo fator mencionado nao deva ser objeto de atengao uma vez que sendo os alunos oficiais de marinha mercante, o estudo de tais assuntos esta diretamente ligado aos seus maiores interesses. Nao obstante ha um problema, um dos mais serios com que o instrutor se defronta, e que reside na atitude do aluno perante as dificuldadcs surgidas da sua experiencia no mar.
Temos analisado alguns problemas dessa natureza, como resultantes de um sentimento de frustragao causado pela observagao de praticas contrarias ao apreendido em livros, ao ensinado pelos instrutores e ao que sua intuigao admite como certo. O estudante pode constatar a validade dos argumentos quanto a maneira certa de processamento dos trabalhos, mas adquire a sensagao pessimista de que os erros sao irrcmediaveis. Como resultado, ao ser lecionado pelo mestre um processo correto mas cuja execugao tenha ele observado ser diferente, incorreta, fica possuido da convicgao de que o que Ihe e ministrado, e impraticavel.
Sem um bom conhecimento de como combater essas impressoes, o instrutor pode falhar na sua missao. Como sempre, e a luta continua entre o erro e a verdade e que, muitas vezes nos leva
a pensar que Goethe estava certo quan do dizia; «o erro voa alto e confiante na certeza de ter a maioria do lado». seu
Estamos convencidos de que as causas de tudo isso, tern suas raizes no carater anacronico das relagoes humanas, na industria dos transportes maritimos.
Existem poucas industria importantes, atualmente, cujo pessoal supervisor tenha responsabilidade comparavel a dos oficiais de marinha mercante, com sistema de formagao desses supervi um OlOL^iliCl sores sob muitos aspectos tao precaria.
Relatorio Final
Durante o ultimo quarto do ano do curso avangado, e obrigatoria a elaboragao do relatorio final, fiste, deve versar sobrc qualquer assunto compreendido no setor de operagoes de carga de um navio mercante.
6 um trabalho que requerendo do estudante, pesquisas, raciocinio e bom senso, contribui para ampliar seu cabedal de conhccimentos no assunto.
Presentementc existem cerca de 600 relatorios arquivados na biblioteca da Academia, elaborados nos ultimos 6 anos. Tais relatorios constituem uma excelente fonte de informagoes e referencias para os futuros aspirantes.
A falta de bibliografia e rcfcrencias de fontes autorizadas, disponiveis. pa ra quem deseje escrever sobre o assun to, tornou-se evidente e manifesta quando os estudos a respeito de operagoe.s de carga foram iniciados. Provavelmente uma das tarefas mais importantes que poderiam caber a Associagao Internacional de Coocdenagao das Operagoes de Carga, seria promover a elaboragao de uma enciclopedia referente a tais assuntos com a publicagao de anuarios e revisoes decenais.
(Continua)
Os quadros que se seguem referemse ao movimento financeiro das sociedades de seguro operando no Brasil durante o ano de 1955.
Nao foram divulgados os quadros relativos aos ramos de pequeno movi mento, mas OS dados correspondentes poderao ser encontrados na Divisao de Estatistica e Mecanizagao do I.R.B.
— Segao de Sistematizagao.
O quadro abaixo resume o movimento dos diferentes ramos e permite verificar OS indices'relatives aos dois ulti mos anos. Nele se constata facilmente o bom resultado obtido por esta atividade economica durante o ano de 1955. As despesas administrativas do ano, muito embora tivessem crescido em valor absolute, foram relativamente bem inferiores as do ano anterior, o que certamente nao ocorrera em 1956, pois neste ano foram reajustados os salaries minimos existentes.
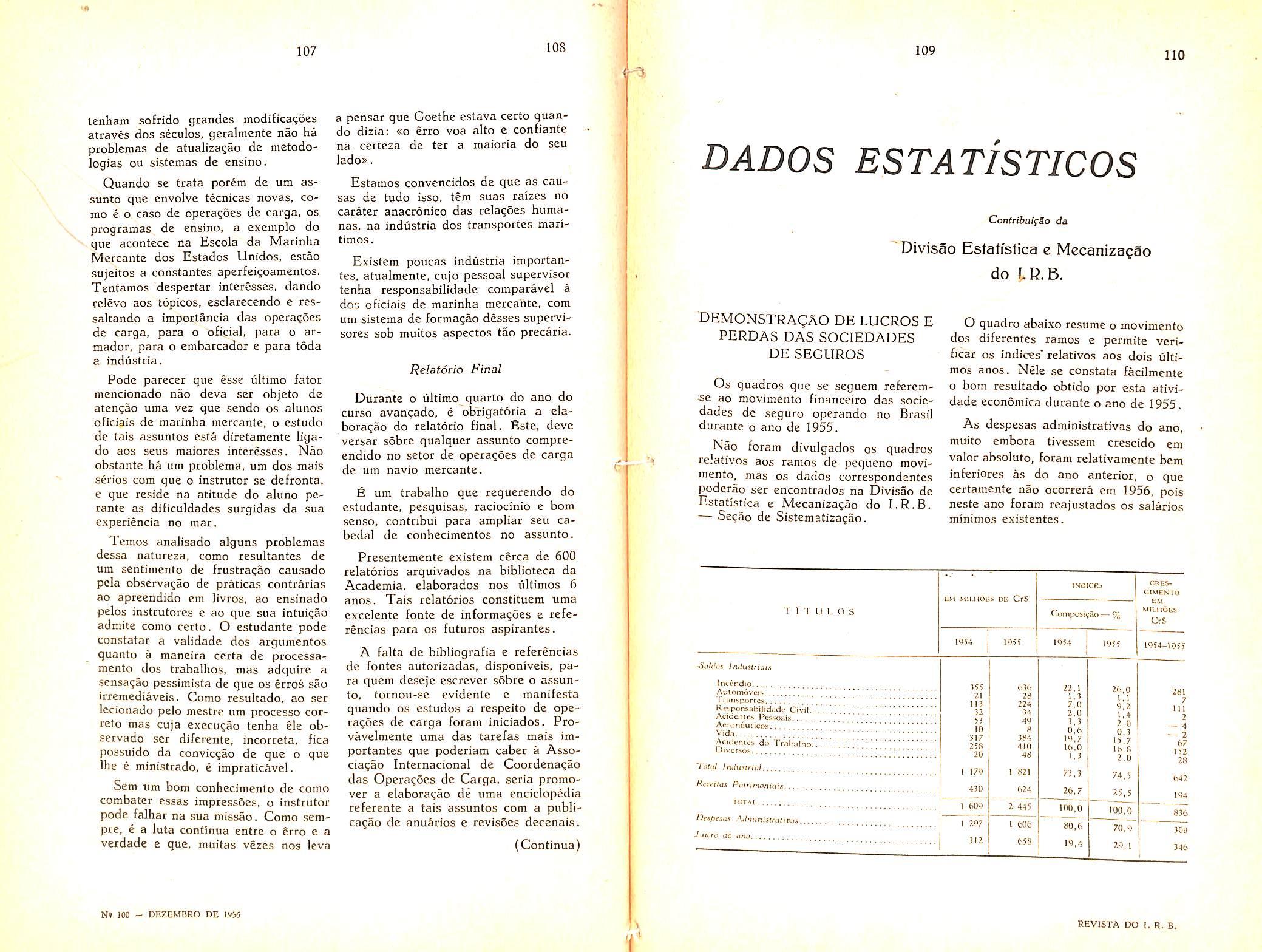
Vida fl)
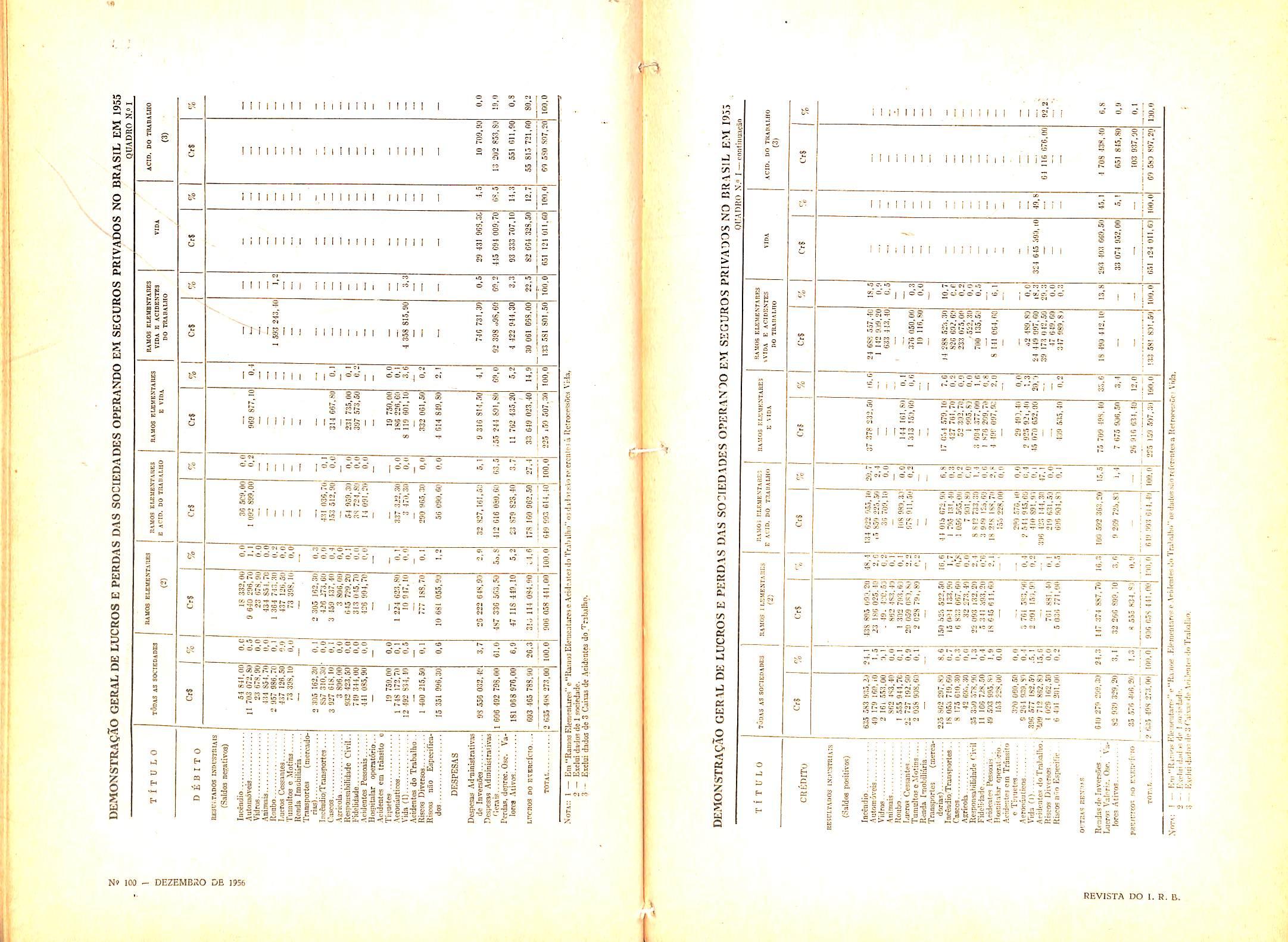
do I .H It.
Ai-eiios
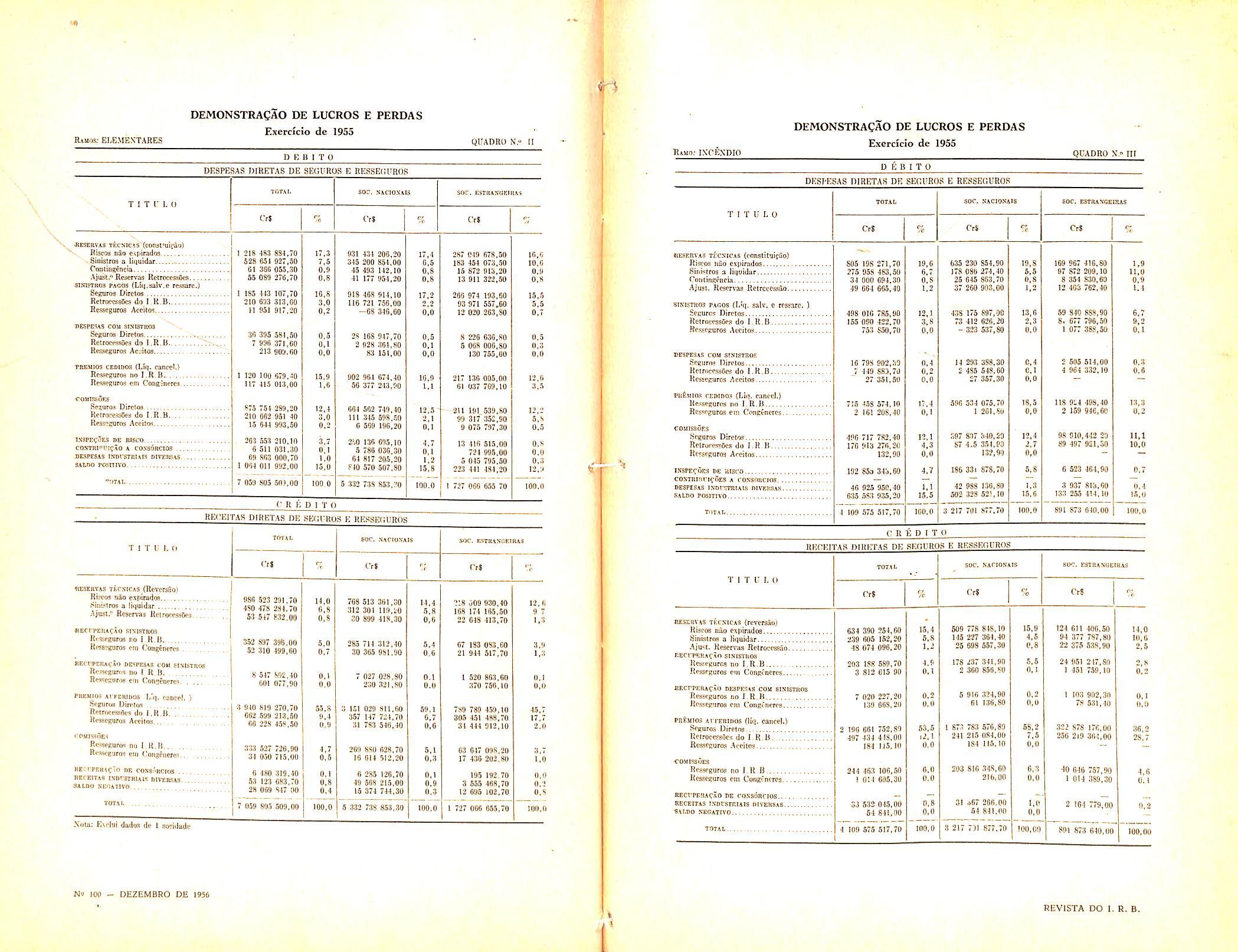
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS Exerdcio de 1955

DESPESAS
BcsERrw Ttfsics (rc'.crrSr.) Rtscos nao Espiradcm,. Sjnistros a liquldap Ajusl. Hcserva, Helrocrasao.
MCfPElliC.io SISISTKOS Bewguros nn I.R B Hraseguror «ni Cocgroorcs.
BECiTERiC'O nasfEsss rou sixisrr.os Rrescetmis no I R .ll Hc«S(kij7i« on raiisSnorM... ,]
rsEKios Al EEIIIIlOS (EifJ. caiwl) Scgurcs Oiroio, 'telrocostOca do J.H.B,,,,
BAMo: TRAMSP0KTE3
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS Exerdcio
DESPESAS
E HESSECVROS
2tstnv,<s TicMCAS (coristitnigan)
Rt'cos iiat> Espir.id&s SlnlUfos a licjuidar
Ccnlicgencia
.\iU5i. Rcscrva Uctrn:essu4. .-
siNi-srROS TAnos (1-19- salv. rvssarc.)
Scsupos DirctM
DcitoccssScs do I.R.I!
Rc.ascgurcs -Accitoa
BWfES.lS con SIS-r.'iTROS Scg'jfos Difctos RciroccsaScs do I.H.Ii Rrescfuroa Acdios
rncnios cedioos cancel.)
Bc'scgaros no I.R.I!
Rpisc-uros cm Congcncrca
C0UTJ50ES
Bcguros Dirclos
RclrocessOca do I.R.13
RcssCRoros .Accitos
I.VSPEfOtS BE RISCO
co.s-niiiii-ic.co A coN'sOficios
EESPESAS ixnrsrniAis uirtnsis
6ALD0 I'OSIIIVO TorAi
734-625.3J 87 315 782,03 11 939 lio,.1(l 821 4j;i,20
764 481,70
nESEP.EAS TEC.s-icis CrevcnSo) Hiscoa nSo cxiiiradoa Einistros a liijuidsr
Ajust.® Rcserraa Retroc(ss5o.
BECCPSRACAO SIXIETO.IS Rasscearcs no [ R.B RasscEuros em Congcncros
BECCPEBACaO DESPESAS COM SIMSrSOS Rcasagiiros no I.R B. Rassegnroa em CongCneres
PBEUIOS AVIERIDOS (Lio. cnDCC).)
Seguros Dipctna
„ RelroceasSc.s do I.R.B Ressegcros Acaitos
COMISSi'es Rcssoguroa no I.R.B Reaeguros eco CoDgenares
BECOPEK.ACjo DI C0N.s5rcio3
EECBITaS l-XDl'STEIAIS DIVERSA3
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS Exercicio de )953
T r T II I, 0
WMRVAS TECMCAS (conSlltuifOo)
BUcos lZo cxpimloa
Sinistros a liquldar
CQDll^C/tCU
Ajust* do Rtecn-a Rctroceasao
siNtfiTROs PAOOS <Liq, sa'v, rcssaw.).
Rcgviroa Dirot4)s
Bctroccsdes do I.E.D
Hcss(%uros Accllos.
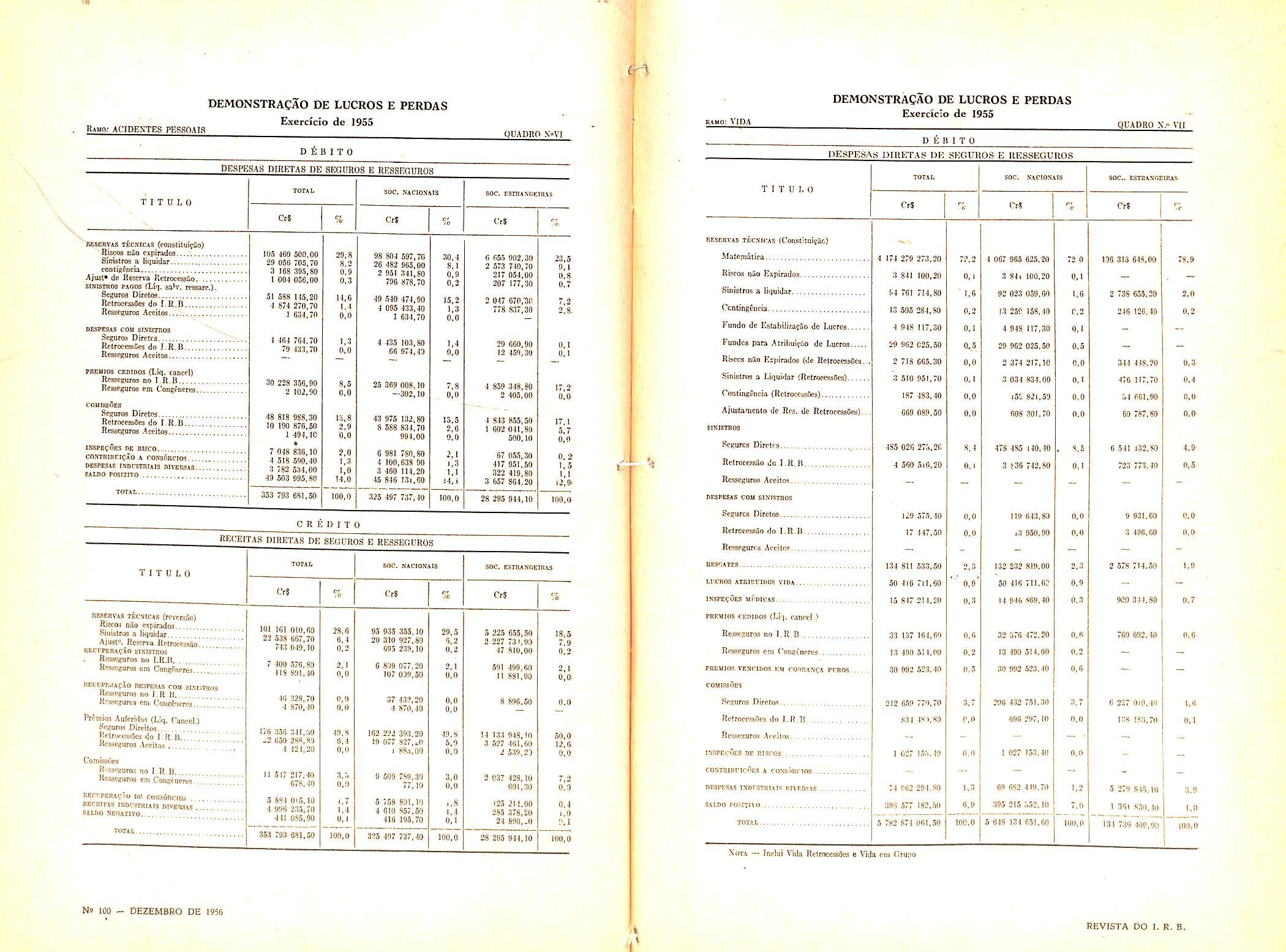
PRBUJOS CRD1D08
n^ssoguros
Resseguros
em Congfnercs
RtCCPEIUfiO alXISTROS
Heascjuraa Dn I.R.B
R^Sifguroa cm CongOneres
HECCTKaifSo nESPESAS COM !I.SliIROS
RcAScguros !10 I.R li..
Hcsspgorca em Coiisfoorca..
PfOmios AulpriilOT (Mq. raocol)
Scgurns DireiUa
RctrocewAca do I R H
Comissoca R'.m'BuroA
00 r.U B.,.. Resscpiros em Congtocrc?
or co.vsArcios
T I T U L 0
\;
Excrcicio de 1935
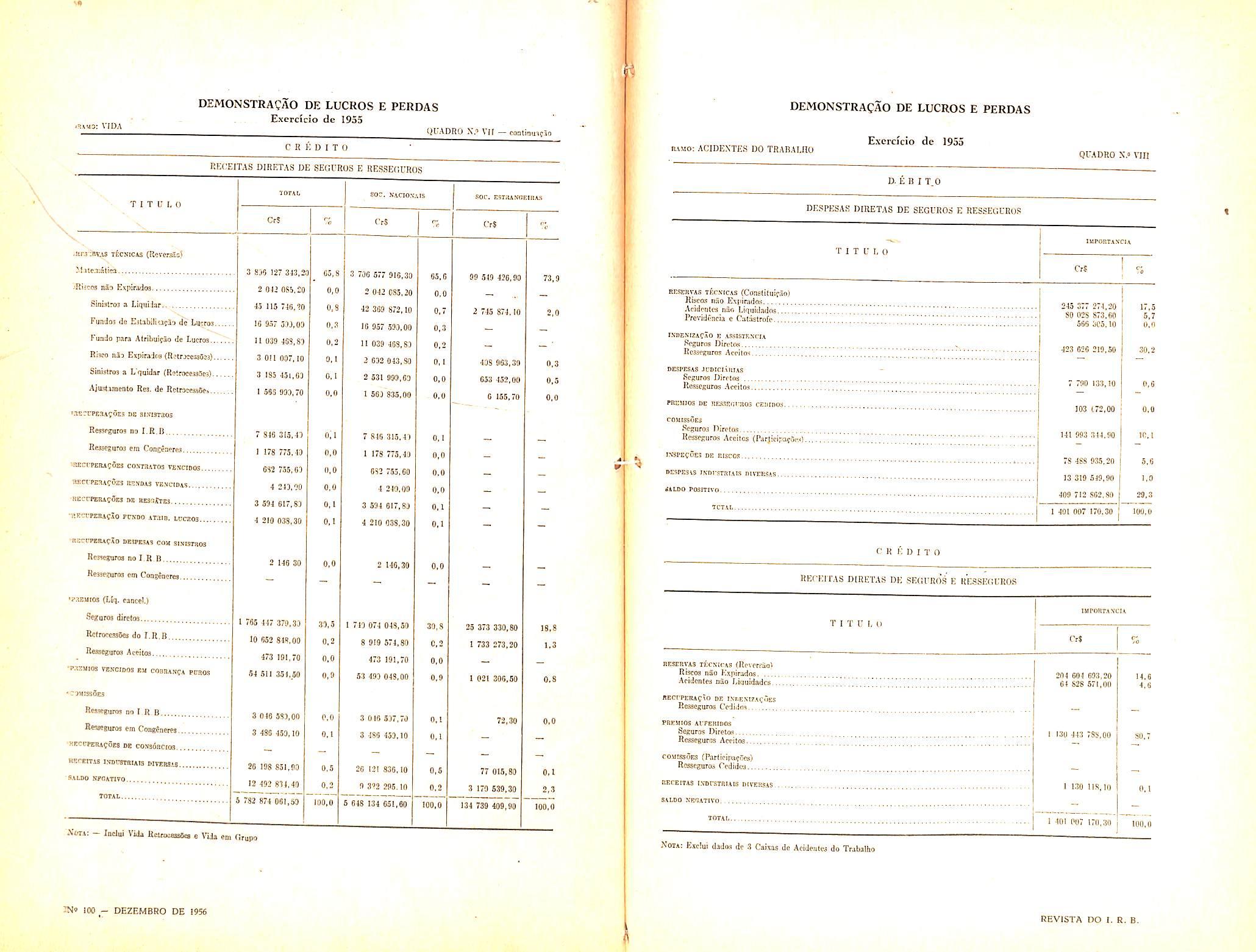
C R i: D I T O
Sor. K.lCIOyAlS
.Hr,rS<t,u t6csica8 (R-vmSui
MJtc^ii'itiea
-Riscos nfi^ Expiradas
Siniatroa a LicjuHar
Fuados dc Eatabiliucia de Ujcros.
KuaJo para Alribuitao de Lucros...
Riwo Pila Eepiradw (RctraacasSu).
Sinistroa a L'quidar (RetrocessSca)..
AjiBtaraeDlo Res. de RelneessSej..
'XErrPEai;i)Es bs sivinaos
Resseguroa no I.R.B
ReBegiiJoa em Congloerea
>iiKci-?EEAgaEs covm.ma texcidcb
HtrvPEAacOzs rzxoas vs.vciDaa
71ECUPERi?3s3 PE SESOfTEJ
-i'.Eei-fzaAjio ecndo amis, locsos
•REerPERAt.AO UEJIXlAa CO* SIXISSftos
Rcsaegufos no I.R B
Rcssejuroa em CongSotrea
■p.iEaiCa (Lia, cancel,)
Seguros diretos
RflrocesaSes do I.R.B
Reaseguroa Aeeiua
TRzuioa
e* coonANjA
t^L'ADRO VJf — conlinu"ic3o
CrS
Ct$
3 S35 127 313,2a
2 012 l)Sb,20
43 115 715,?0
IC 9.37 532,09
11 039 103,83
3 Oil 007,10
3 185 451,03
1 595 993,70
n:cN;r,ss (ftDNcri-iiol
Eiclui didaa de .3 Caiaas de AcideiUes do Trabalho
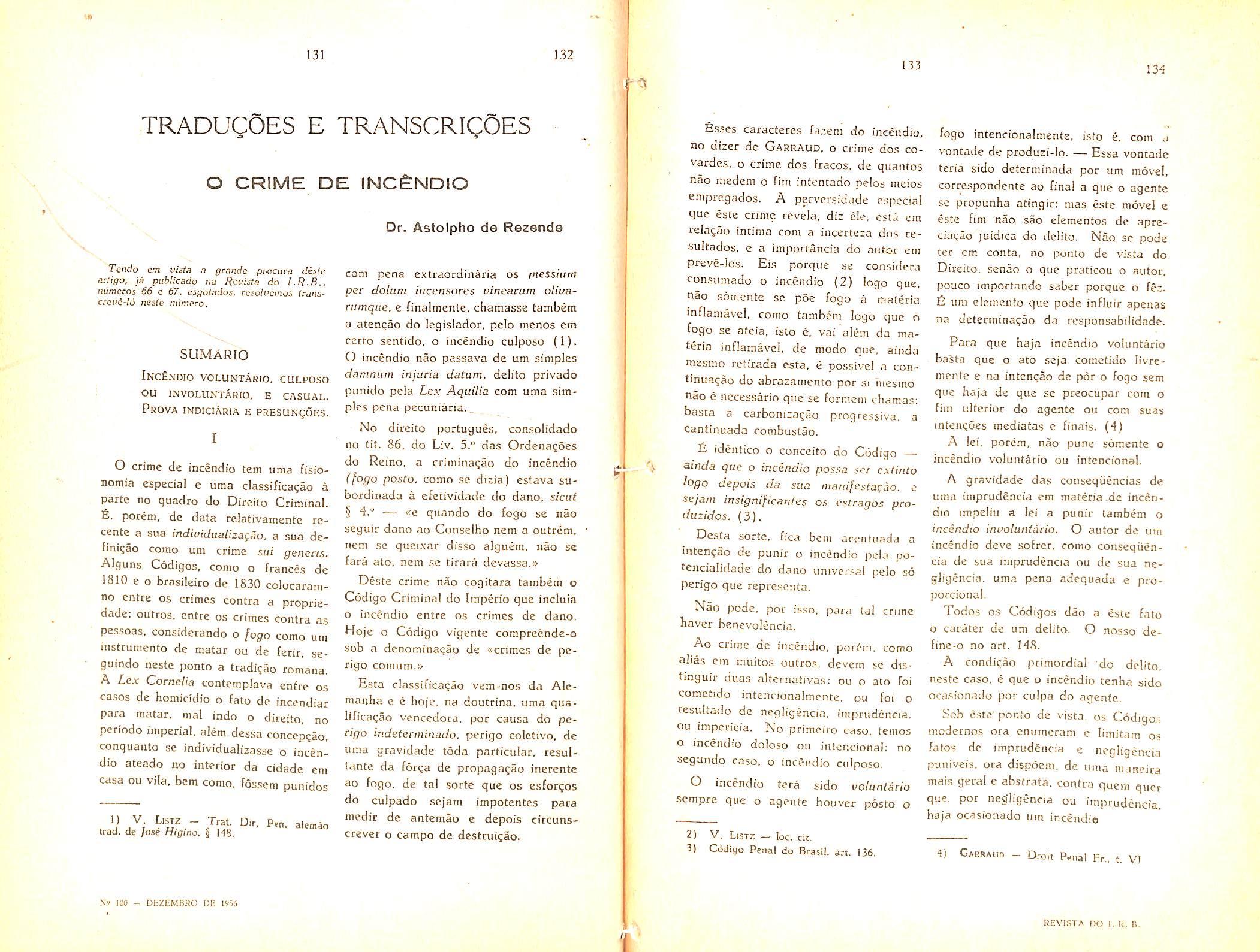
Tcndo cm vista a grandc pr<iciira disic artiffo, ja publkado na Rcuisla da numcros 66 e 67. csgolados. raolvcmos transcccvc-lo neslc m'lmcro.
SUMARIO
Incendio voluntario. culposo
OU INVOLUNTARIO. E CASUAL. PrOVA INDIClARiA E PRESUNgOES.
O crime de incendio tern uma fisionomia especial e uma classifica^ao a parte no quadro do Direito Criminal, fi. porem, de data relativamente recente a sua indwidualizagiio. a sua definicao como um crime sui generis. Alguns Codigos, como o frances de iSlO e o brasileiro de 1830 colocaramno entre os crimes contra a propriedade; outros. entre os crimes contra as pessoas. considerando o [ogo como um instrumento de matar ou de ferir, seguindo neste ponto a tradi?ao romana.
A Lex Cornelia contcmplava entre os cases de homicidio o fato de incendiar para matar. mal indo o direito, no periodo imperial, alem des.sa concep;ao. conquanto se individualizasse o incen dio ateado no interior da cidade em casa ou vila, bem como, fossem punidos
y al^tnao
trad, de Jose Higino. J H8.
com pena extraocdinaria os messiurn pec dolunx incensores uinearam olivaciimqne. e finalrnente. chamasse tambem a atencao do legisiador. pcio menos em ccrto sentido. o incendio culposo (I). O incendio nao passava de um simples damnnm injuria datum, delito privado punido pela Lex Aquilia com uma sim ples pena pccuniacia.
No direito portugues. consolidado no tit. 86. do Liv. 5." das Ordenaqoes do Reino. a criminaqao do incendio ([ogo posto. como se dizia) estava subordinada a cfetividade do dano. sicut § d." — «e quando do fogo se nao seguir dano ao Conselho nem a outrem. nem se qiiei.xar disso alguem. nao se fara ato. nem se tirara devassa.s
Deste crime nao cogitara tambem o Codigo Criminal do Imperio que incluia o incendio entre os crimes de dano. Hoje o Codigo vigente compreende-o sob a denominaijao de «crimes de perigo comum.;>
Esta classifica^ao vem-nos da Alemanha e e hoje. na doutrina, uma qualificapao vencedora. poc causa do petigo indeterminado. perigo coietivo, de uma gravidade toda particular, resultante da forga de propaga^ao inercnte ao fogo. de tal sorte que os esforqos do culpado sejam impotentes para medir de antemao e depois circunscrever o campo de destrui^ao.
£sscs caracteres fazeni do incendio. no dizcr de Garraud. o crime dos covardes, o crime dos fracos. de quantos nao medem o fim intentado pelos mcios empregados. A perversidade especial que este crime revela, di: eie. esta em relagao intinia com a incerteza do.s resukados. e a impoitancia do autor cm preve-los. Eis porque se considera consumado o incendio (2) logo que, nao somcntc se poe fogo a materia inflamavel, como tambem logo que o fogo se atcia, isto c, vai alem da ma teria inflamavel, de modo que, ainda mesmo rctirada esta, c possive! a continuapao do abrazamento poc si nicsmo nao e necessario que se formcm chamas; basta a carbonizaguo progiessiva, a cantinuada combustao.
6 identico o conceito do Codigo •ainrfa que o incendio possa sec cxtmto ^ogo depois da sua inanifestagao. c sejam insignijicanfes os cstragos praduzidos. (3).
Desta sorte, fica bem acentuada a inten^ao de punir o incendio pela potcncialidade do dano universal pelo so perigo que represcnta.
Nao podc, por isso, para tdl crime bavcr benevolencia.
Ao crime de incendio, por^ui, como alias em muitos outros, dcvem .sc dtstinguir duas alternativas; ou o ato foi cometido intencionalmente. ou foi 0 resukado de negligencia, imprudencta, ou impcricia. No primciio caso, temos o incendio dolose ou intencional: no segundo caso, o incendio culposo.
O incendio tera side voluntario sempre que o agente houver posto o
2) V, LiSTZ — loc- cit,
3) Codigo Penal do Brasil. art. 136.
fogo intencionalmente. isto e. com a vontade de produzi-lo. — Essa vontade teria side determinada por um movel, correspondente ao final a que o agente sc propunha atingir; mas estc movel e estc fim nao sao elementos de aprecia(;ao juidica do dclito. Nao sc pode cer cm conta, no ponto de vista do Direito, senao o que praticou o autor. pouco importando saber porque o fez. £ um clemento que pode influir apenas na dcterininagao da rcsponsabilidade.
Para que haja incendio voluntario baSta que o ato seja cometido livremente e na intenqao de por o fogo sem que haja de que sc preocupar com o fim ulterior do agente ou com suas inten(;6es inediatas e finais. (4)
A lei, porem, nao pune somente o incendio voluntario ou intencional.
A gravidade das consequencias de uma imprudencia em materia.de incen dio impeliu a lei a punir tambem o incendio ini'oluntario. O autor de um incendio deve sofrer. como conseqiiencia de sua imprudencia ou de sua ne gligencia. uma pena adequada e proporcional,
Todo.s OS Codigos dao a este fato o carater de um dclito. O nosso define-o no art. 148.
A condigao primordial do delito, neste ca.so. e que o incendio cenha sido ocasionado por culpa do agente.
Sob este ponto de vista, os Codigos niodcrnos ora enumcram e iimitam os fdtos dc imprudencia e negligencia puniveis, ora dispoem. dc uma niancira mais geral c abstrata, contra quern qucr que. por negligencia ou imprudencia. haja ocasionado um incendio
O Codigo Penal frances segue o primeiro sistema. sendo o segundo adotado, cntre outros, pelos Codigos alemao. italiano c brasileiro.
O nosso Ccdigo, no art. 24, considera contraries a lei penal e, portanto, puniveis, as a^oes ou omissoes. nao so quando cometidas com intengao crimino.sa, como tambem quando o nao sao, e lesultarem da negligencia imprudencia ou impericia. Nao enumera, porem, OS casos, nem cxemplifica. Deixa a sua determina^ao aos fatos: deixa ao Juiz o vasto crft&rio das circunstancias onde a sua consctencia se pode mover a vontade.

Para deterrninar a responsabilidade do agente nds teremos de recorrer aos principios gerais do direito em materia de provas, e nos encontraremos sempre em frcnte de circunstancias. indicios. fatos, onde haurir a convic^ao, porque raramente teremos testemunhas de vista, pessoas que possam atestar com o scu testemunho que o fogo foi posto dolosamcnte.
Em regra. todos os incendiaries nesla Capital aobbcrtam-se com a «ca.sua]idade».
Dcsdc que se nao oo.ssa deferminar com precisao a sua responsabilidade dolosa. tem se concluido que o incendio fo) casual, fi, a meu ver, errada csta concepgao.
A casualidade, o caso fortuito, o acaso. c uma alcgaijao dc defesn. e uma CATCfao, que dcvc ser provada irrcmissivelracnte pclo acusndo, c jamals pcia aciisaqao.
Quando se nao possn provar coino brotou o fogo. e prccipitado c erroneo concluir que o incendio foi obra do acaso; o individuo deve ser tido por
culposo. hto e, por imprudente, ou.por negligentc em tomar as devidas precau^oes,
£ verdade que o nosso Cddigo diz. no art. 27, § 6", que nao sao criminosos OS que cometeram o crime casualmente. no exercicio ou pratica dc qualquer ato lie to. feito com a tcnsao ordinaria. £ a dirimente rcsultante do caso for tuito.
Mas, ha certas palavras. comenta Carrara (5), que correm de boca em boca, parecendo estarcm todos de acordo sobre a sua significagao; mas considerai bem, c procurai a ideia que corresponde aquela palavra na inente dos que emprcgam, e vos encontrareis em face do indefinido. Esta me parece scr a sortc da palavra caso for tuito que o vulgo repete todos os dias com uma aparente unanimidade, mas que. quando se qucr levar a uma aplicagao pratica. revcla. ao contrario. uma pcrpetua discordia no conceito correspondentc. O caso fortuito (o acaso^ c palavra que pode ter um conceito absolute ou subjetivo, c um conceito rclativo ou objetivo, Tera-se primeiro quando o acaso sc cncara cm si mesmo, indcpcndcnte dc todo o concurso do homem. Tem-se o segundo. quando e encarado nas suas rclagoes como um ato Irvrc do homcm, que tenha auxiliado o acaso nas suas opera?6es.
«£ somente cstc segundo aspecto, o aspccio relative do acaso. que ao jurisia interessa contemplar, definir c estudar, porque cssc estudo Ihe inte ressa iinicamente para deterrninar quando pode a lei cncontrar no homem uma responsabilidade por aquelcs casos
fortuitos que produziram uma lesao nos direitos de outro homem.
No conceito do eminente criminalista. o acaso torna-se imputavel quando concorrem estes dois requisites: 1." quando o evento casual tenha tido por causa presente da sua aqao danosa um fato humano imprudente: 2." — quando o autor dessc fato imprudente podia prever aquela agao do acaso.
A imputa^ao culposa tem, pois, por base — a imprudencia e a previsibilidadc, independente de qualquer licidez ou ilicidcz do fato, isto e. pouco importando que o ato seja licito ou ilicito. Se 0 autor foi imprudente, ou negli gentc. e podia prever o resultado funesto, ha culpas.
E vai raais longc: «Quando o fato pode ser previsto e prevenido. embora a sua causa imediata seja a vis divina, a imputabijidade em razao da culpa nao pode deixar de ser admitida. Nestes termos, e exatamente falando, nao se responsabiliza o acaso. mas imputa-se o ato humano imprudente que conduz o acaso aquela forma rclativa especial que se torna prejudicial aos direitos humanos. Aos delitos culposos imputa-se o ato imprudente. positiuo ou negativo, que tenha em si o poder de causar. raais ou menos mediatamcnte. o prpprio acontecimento. Este fato imprudente se imputa--pof si mesmo embora nao sendo seguido do resultado.
Nao podemos tomar como fatos definidores. constitutivos da culpa. as quatro hipoteses do Codigo Frances. que, neie taxativas. reprcsentam. entretanto, para nos, disposi^oes ou hipotescs excmplificativas como scjam a vetuster, ou falta dc reparacao ou de
limpeza dos fornos, chamines, casas ou usinas proximas fcaso de negligenciaj; o fato de trazer ou deixar fogos e luzes sem precau?ao suficientc (caso de im prudencia).
Para que proceda a dirimente do acaso. entende o Conselheiro Thomaz Alves (6) que devem concorrer tres requisites: 1.° — agao casual; 2.° ato licito; 3." — tensao ordinaria.
Acaso (diz ele) — e o acontecimento inesperado que nao estava nem podia estar em nos.sa previsao: que e inde pendente de nossa vontade. e que tic pouco pudemos acautelar.
Ato licito — e aquele que se nao opoe as disposigocs da lei. nem aos preceitos da moral.
Tensao ordinaria — e a ausencia do dolo ou do mau designio. «Tambem se devem enfender por estas palavras as cautelas que a prudencia manda tomar na pratica de qualquer ato. a fim de evitar algum dano social, e a ofensa ao direito do terceiro. Logo, pois. que faltar um desses requis'tos. que devem concorrer. nao se pode reconhecer juridicamente a dirimente do acaso.
A culpa se caracteriza, no conceito de V Listz (7) por estes dois requi sites: 1." — falta de precaugao. isto li. desprezo do cuidado que a ordem juridica imp6e e que se faz mister conforme as circunstancias; 2.° — falta de pre visao, isto e, possibilidade de prever o agente o resultado como efeito de seu ato.
Para que o incendio, portanto. possa scr reputado casual, e imprescindivel
6) Cod. Grim, Bra.sileiro.
7) Op. cit. § ^1.
quc haja um ato licito patente, e manifeslo, durante cuja pratica, ou em cujo exercicio tenha sobrevindo o incendio, como e, v. g., o caso de uma explosao subita pelo contacto de uma iaisca eletrica.
De sorte que. c rcsumindo. lemos nos, na classifica^ao do incendio, de alender as seguintes modalidades;
I — Incendio voluntario. intcncional. oa doloso — quando ha positiva e dirctamente a inten^ao ou a vontadc de incendiar, considera-se o crime consumado. logo que nao somente se poe fogo a materia inflamavel, como tambem logo que o fogo se ateia. isto e. vai alem da materia inflamavel, de modo que, ainda mesmo retirada esta. e possivel o abrasamento por si mesmo. nao sendo necessario quc so forme chamas, e basta a carboniza?lo progressiva a continuada combustao (8).
— Incendio por imprudencia oti negligincia — incendio ciilposo. Tem por fundamento um ato impcudcntc. positivo ou negativo, que tenha cm si o poder de causar mais ou mcnos mcdiatamente. o incendio. unido, a falta de precisao. Elementos caractcristicos imprudencia e previsibilidadc: isto e. falta de precau;ao e possibtlidade de prever o resultado.
Incendio casual. Fundamen to primordial; a imprevisibiUdade ' preciso que o incendio seja produto de um acontecimento inesperado, que nao esteja nem possa estar em nossa previsao, e que se nao desprezem as cautelas que a prudencia manda tomar na pratica de qualquer ato.
Ha, em geral, bcncvolcncia para os dchtos culposos. Impera ainda viilgarmentc a idcia quc somente quando ha uma vontade pcrversa e a intcnsao de malfaier, c que se tcm um fato mcrecedor da sangao penal, e que se tcm um dclito, uma agao punivel. fato averigiiado que a consciencia juridica, e mesmo a consciencia popular olham com bencvolencia e brandura para os autores involuntarios de delitos, se, antes, c de preferencia, nao proclamarn a sua impunidade.
Mas, como bcm nota Angiolini, no seu e.xcclente e complete cstudo Dei deliti culposi, estas fdeias de im punidade reprcscntam a influencia do Direito Canonico, consubstanciada na sua nia.xima fundamental — vdantas espcctatur, non cxitns —, maxima que re tornou regra cardial das Icis pcnais. Com fais ideias filosoficas. diz com razao ANCiOLiNl, com tais principios juridicos dominantes, era dificil obter quc o fato culposo pudesse sec tomado' em consideragao; era imposs'ivel que sc o iulgasse como crime, c que o seu autor fosse cquiparado ao cri.minoso. Mas, considera ele o delito, como fcnomeno eminentemente social, enquanto se nao pode conceber fora da sociedadc, e qualquer coisa quc, de mode insensivel. mas constantemente, muda de aspecto e de forma, sentc o influxo do tempo, da civiiiza^ao c do progrcsso.
Como toda.s as estagoes do ano trazem as suas flores e os seus frutos, como em toda a idade o homem tem paixoes e vicios, que sao caractcristicos de cada idade, do mesmo modo toda civilizatao tem algumas formas de de-
linquencia, que vao desaparecendo como antiquadas, c oiitras que assumcm sempre maior importancia, c merecem maior considcraqao. Assim, o banditismo e o scquestro de pcssoas sao delitos quc, comuns oufrora, hoje raramcnte sc verificani, cspecialmcntc nos pai.scs onde maiores tem side as cooquistas da civilizaqao, ao passo que os delitos culposos, isto c, os delitos que rcsultam dc imprudencia, os danos quc se produzem sera a intenqao dc prejudicar, aumentam por sua vez, assim como vai crescendo considcravelmente o niimero de vitimas dos delitos invo luntarios.
Tarde corrobora com a sua grande autoridade de jurista — filosofo; «Sao especialmente as formas inroluntarias do homicidio que sc descnvolvcm c aiimentams.
Pcnsai v6s nos novos mcios dc mortc, nas novas molestias ineditas que traz consigo todo novo ramo da indiistria, toda a passagcm da pequcna a grande industria, do«trabalho isolado a aglomeraqao da manufatura a maquinofatura, e ai acharcis outras tantas novas manciras de matar sem-querer !
A negligencia, a imprudencia e a impericia fe ainda de Angiolini o conceito) acarrctam a sociedade danos gravissimos; c nos, sc quisermos pro tegee OS intercsses c tutelar os direitos da sociedade, puniremos a causa do dano, sem nos preocuparmos da intenqao.
Esta c a vcidade ra doutrina, magnifica conquista da escola positivista italiana, de que o mais brilhante expoente c Eurico Ferri, o formidavel polemista. Sociologia criminale; e dou trina vcncedora, ate mesmo no nosso Codigo Penal quc subordina a possibilidacic desses fatos a la prcuita dc inteniione, quc Buccellati exigc como cssencial ao crime quando diz quc so a aqao comctida com maligno propdsito pode scr objeto da justiqa repressiva.
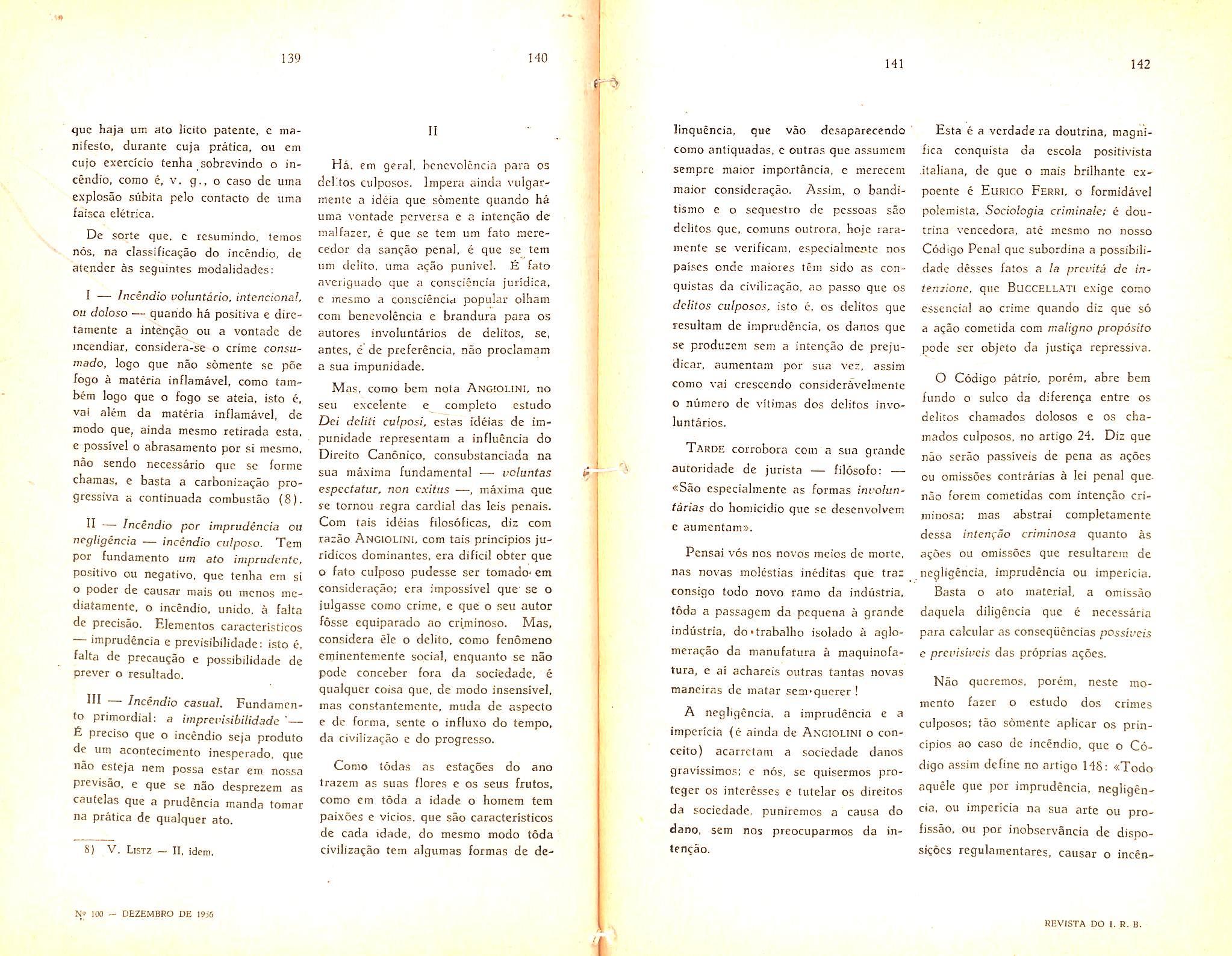
O Codigo patrio, porem, abre bem fundo o sulco da diferenqa entrc os delitos chaniados dolosos e os chamados culposos. no artigo 24. Diz que nao scrao passlveis de pena as aqoes ou omissoes contrarias a lei penal qucnao forem cometidas com intcnqao criminosa: mas abstrai completamcnte dcssa i'nfenfao criminosa quanto as aqoes ou omissoes que resultarem de negligencia, imprudencia ou impericia.
Basta 0 ato material, a omissao daquela diligencia quc e necessaria para calcular as consequencias possiveis c prei'isivcis das proprias aqoes, Nao qucremos, porem, nestc momcnto fazcr o estudo dos crimes culposos; tao somente aplicar os prin cipios ao caso dc incendio, quc o Co digo assim define no artigo 148; «Todo aquele que por imprudencia, negligen cia, ou impericia na sua arte ou profissao. ou por inobservancia de disposiqocs regulamentares, causar o inccn-
dio, sera punido com a pena de prisao celular por um a seis meses. e multa de cinco a vinte por cento do dano causado».
Nao e o linico artigo que pune os fates imprudentes ou negligentes. Ha ainda as hipoteses dos artigos 132 (deixar fugic nm preso por negligencia): artigo 15! (causar. por imprudencia, negligencia. impericia, ou ino6servancia do rcgulamento. ordcns. ou discipUna. um desastre em estrada de ferro): artigo 153, paragrafo i." (dan'if^icagao de linhas telegraficas. etc.; «se OS atos precedentemente mencionados focem praticados por descaido ou negligencia».. artigo 160 (substituigao de medicamentos pelo farmaceutico); artigo 297 (scr causa inuoluntaria. direta ou mdirefa/nente, de homicidios, por imprudencia. negligencia, ou impe ricia na arte ou profissao. ou por inobservancia de alguma disposifao regulamentar): artigo 306 (scr. nas mcsmas condigoes. causa involuntaria, direta ou indiretamente. de alguma lesao corpo ral).
Constituem esses casos ofensas gravissimas a sociedade. que nao podem e nao devcm ficar impunes. e assim, felictnente. o compreendeu o nosso Cddigo.
O legislador. diz Prins (9) nao tem somente de intervir quando houve um
prejuizo: ele tern ainda o dircito de punir. desde que, feita mesmo abstraqao de toda iesao, o perigo social inerente a aqao culposa, demonstra a necessidade de uma defesa social.
A base da apreciaqao, no que concerne a essencia intrinseca da cuipa, diz ainda o mesmo notavel escritor. e a conduta e o grau de previdencia de um homem ordinario que vela cuidadosamente sobre seus negdcios: bonus et diligens pater familias.
Ha cuipa, no scu conceito, quando um ate voluntar o produziu conseqCiencias que o autor nao quiz. ncm direta nem indiretamente. mas que teria devido impedir. O autor cai em cuipa. porque houve, de sua parte. falta de cui'dados, de vigilancia, nao calculou as conseqiiencias do seu ato.
O Codigo, usando geralmente dos termos — imprudencia e negligencia —, emprega tambcm os termos — descuido. e causa involuntaria. direta ou indireta.
Ora. cssa falta de cuidados, de previdencia, e de vigilancia, esses descuidos e negligencia. sao comuns em fato de incend o, e nao ha como justificar a inocencia e a diaria absolviijao desses negociantes negligentes, e descuidados, que assistem a icinera^ao de suas fazendas, mas que nao foram negligentes em mete-las no seguro.
A justi^a ha de lutar em todo o tempo com a dificuldade de pvovas diretas em crimes desta natureza, pois c 0 proprio elemento de que se serve o criminoso — o fogo —,que se~lncuinbe de destruir as provas reals que, em regra, formam a base do procedimento criminal.
Em fato de incendio (crime covarde, proprio dos tempos nossos), diz Tarde (10), quando se condena, condena-se sobre simples presungao, na falta de meios de investiga^ao comparaveis aos dc cnvencnamento, Taivcz um dia o incendio sera tao facil de provar quanto o envenenamento presentemente. Na bora atual. ele e tao dificil de provar quanto era este outrora. Em materia de envenenamento era — se forgado, antes dos progresses da quimica, a condenar as pessoas por simples presun^oes um pouco fortes, sem que se deixariam ficar impunes todos os crimes desta especie. Mas, dcpois que, por meio de reativos especiais, sabe-se reconheccr a presen?a das substancias toxicas, tcm-se o direito de exigir uma convic^ao bem mais forte que outrora.
«Sao tambem as invcn^oes e as descobertas de um certo genero que torr.aram impossivel o regresso a certos n.odos supersticiosos do processo cri minal, usados nos tempos passados e entre todos os povos, como e a ausencia dessas invenqoes e dessas descobeitas que tnrnou outrora. essas praticas quase necessarias. A duvida. sobretudo em •sc tratando de grandes crimes, e um estado tao penoso que a natureza hunana sempre se esforcou por sair dele per todos OS meios possiveis. Nao era na Idade Media somente, era no Egito, na Grecia, e por toda a parte na antiguidade, que se rccorria aos oraculos ou aos juizos de Deus para saber a que sc agarrar para se afirmar a cuipa• bilidade dos acusados. do mesmo modeCjue hoje, e por vezes nao menos cegamente, se recorre aos examcs inedicoIcgais. As Ordalias cram os c.xamcs divino-legais do pas.sado, Era bem preciso a elas recoircr, quando a clinica e as ciencias naturais ainda nao eram nascidas.»
Evidente e que, enquanto nao chegamos a esse estado de perfei^ao que Tarde entreve, devemos recorrer as leis do raciocinio, pondo em agao esse:
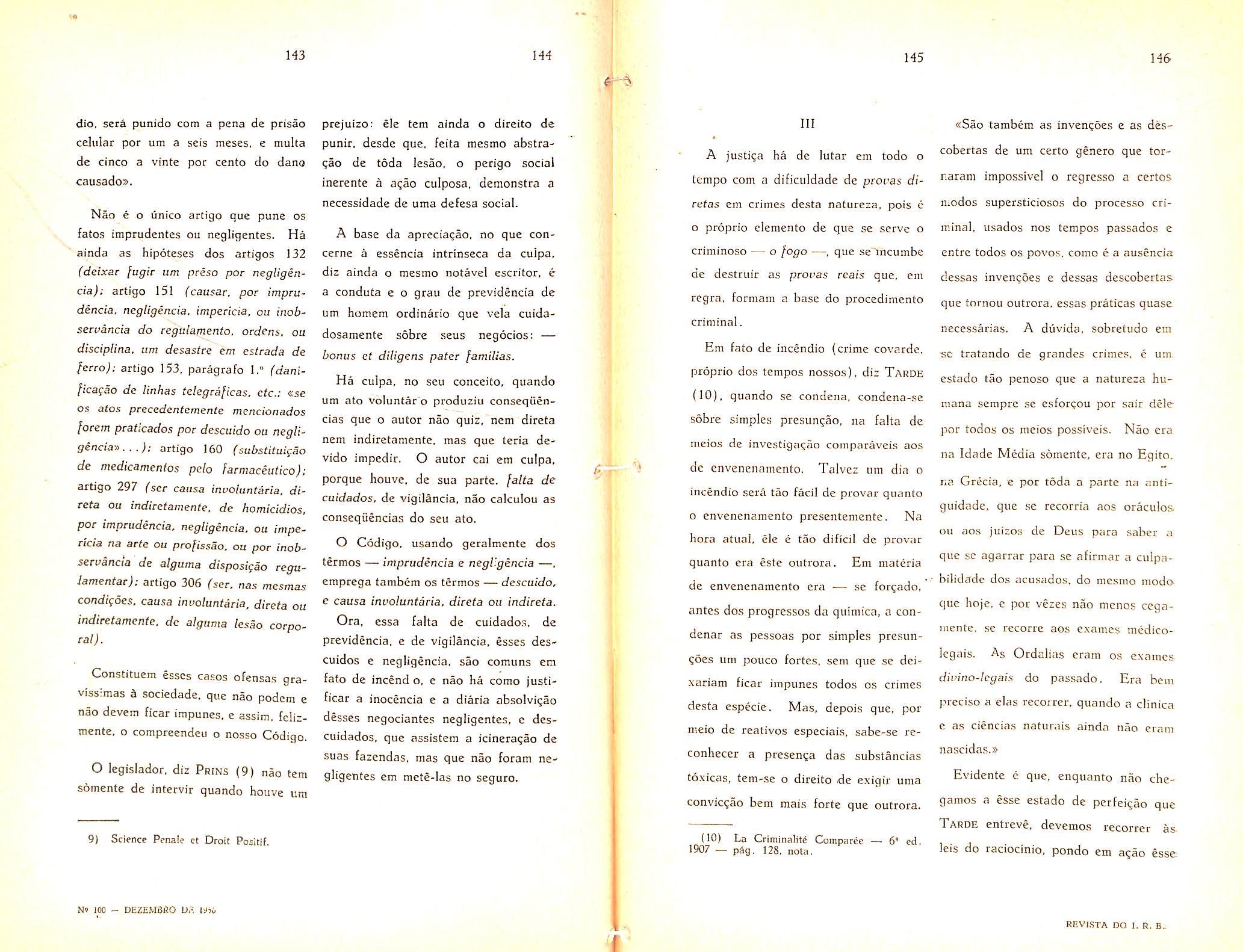
lormidavel metodo indutivo que Bacon formulou.
certo que o homem, no estado normal, nao forma, por experimentaqao direta, senao uma fraca parte de seus conhecimentos (II). Nas circunsumcias as mais importantes, nos nos nao podemos apoiar na evidencia. na percep^ao imediata, e somos reduzidos a concluir do conhecido para o desconsecido. servindc-nos do metodo da indii?ao; ou, como melhor diz Framarino
'(12). o espirito humane, limitado em •suas precau?oes nao chega a verdadc, na maioria das vezes, senao por via in direta.
Em nos a razao e sempre quern guia o espirito em sua marcha do conhecido para o desconhecido, por aqueles fios ideologicos que enia^am o primeiro ao •segundo.
O instrumento, de que a razao se serve para recolher os raios das ideias ■gerais, e concentra-loa sobre as particulares, e o raciocinio.
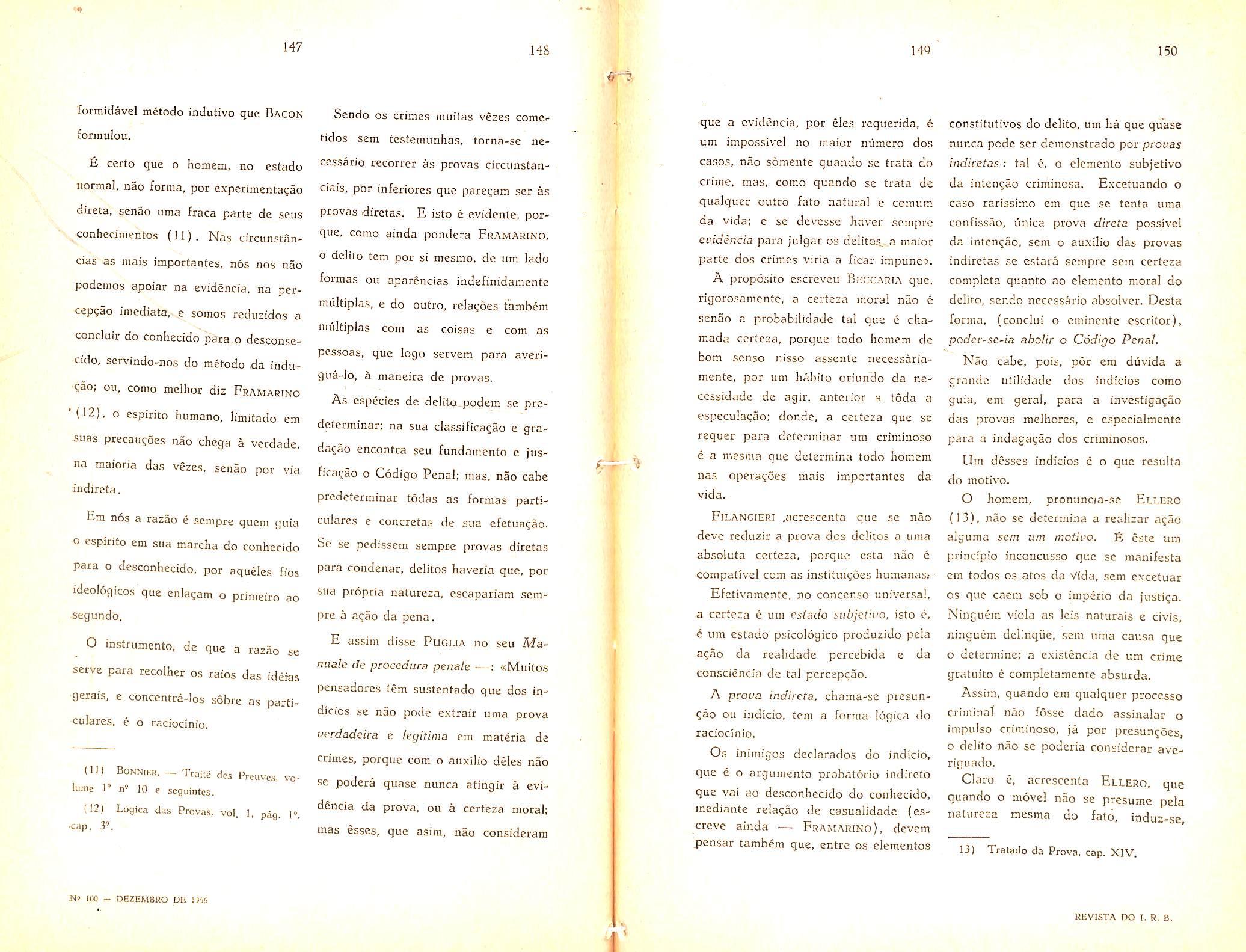
(11)
(12)
Sendo OS crimes muitas vezes come.tidos sem testemunhas, torna-se necessario recorrer as provas circunstanciais, por inferiores que paregam ser as provas diretas. E isto e evidcnte, porque, como ainda pondera Framarino. o delito tem por si mesmo, de urn lado formas ou aparencias indefinidamente multipia.s, e do outro, rela?6es tambcm miiltiplas com as coisas e com as pessoas, que logo servem para averigua-lo, d maneira de provas.
As especies de delito.podem se predeterminar: na sua classificacjao e grada^ao encontra seu fundamenfo e jusficaqao o Codigo Penal; mas, nao cabe predeterminar todas as formas particulares e concrctas de sua efetua^ao. Se se pedissem sempre provas diretas para condenar, delitos haveria que, por sua piopria natureza, escapariam sem pre a agio da pena.
E assim disse Puglia no seu Manuale de procedura penale —; «Muitos pensadores tem sustentado que dos indicios se nao pode extrair uma prova verdadeira e legitima em materia de crimes, porque com o auxilio deles nao se podera quase nunca atingir a evi dencia da prova, ou a certeza moral; mas esses, que asim, nao consideram
•que a evidencia, por dies requerida, e um impossivel no maior numcro dos casos, nao soniente qiiando se trata do crime, mas, como quando sc trata de qualquer outro fato natural e coraum da vida; c sc devcssc haver sempre evidencia para julgar os delitos. a maior parte dos crimes viria a ficar impunc;>.
A proposito escrevcu Beccaria que, rigorosamcntc, a ccrteza moral nao e senao a probabilidade tal que e chamada ccrteza, porque todo homem de bom senso nisso asscntc necessariamente, por um habito oriundo da neccssidade de agir, anterior a toda a especulagao; donde, a ccrteza que sc rcquer para determinar um criminoso e a mesma que dctcrmina todo homem nas operagoes inais importantes da vida.
FilaNCIERI .acresccnta que sc nao devc reduzir a prova dos delitos a uma absoluta certeza, porque csta nao e compativcl com as instituigoes humanns»
Efctivamente, no concenso universal, a ccrtcza c um estado siibjctivo. isto e, c um estado psicologico produzido pcla agio da rcalidade pcrcebida c da consciencia dc tal pcrcepcao.
A prova indireta, chaina-sc presungao ou indicio, tem a forma logica do raciocinio.
Os inimigos declarados do indicio, que e o cugumento probatorio indireto que vai ao desconhecido do conhecido, inediantc relagao de casualidadc (escreve ainda — Framarino), devem pensar tambem que, entre os elementos
constitutivos do delito, um ha que quasC nunca pode ser demonstrado por provas indiretas : tal e, o clemento subjetivo da intcngao criminosa. Excetuando o caso rarissimo em que se tenta uma confissao, unica prova direta possivel da intcngao, sem o auxilio das provas indiretas sc cstara sempre sem ccrteza complcta quanto ao elemento moral do delito, sendo necessario absolver. Desta forma, (conclui o eminentc escritor), podcr-se-ia abolit o Codigo Penal.
Nao cabe, pois, por em duvida a grande utilidade dos indicios como guia, em geral, para a investigagao das provas melhores, e especialmcnte para a indagagao dos criminosos.
Um desscs indicios c o que resulta do motivo.
O homem, pronuncia-se Ellero (13), nao se determina a realizar agao alguma sem am motivo. este um principle inconcusso quo se manifesta cm todos OS atos da Vida, sem cxcetuar OS que caem sob o imperio da justiga. Ningiiem viola as leis naturais e civis, ningucm dclinqiie, sem uma causa que o determine; a existencia de um crime gratiiito e completamcnte absurda. Assim, quando cm qualquer processo criminal nao fosse dado assinalar o impulso criminoso, ja por presungbcs. o delito nao se poderia considcrar averiguacio.
Claro 6, acresccnta Ellero, que quando o move! nao se presume pela natureza mesma do fato, induz-se,
merce de provas diretas ou indireta.aos iatos e sentimentos que o originam. o amor, a utilidade, a inimizadc, a orensa, os perigos, etc. ...
Bentham corrobora (14). O crime tendo sido cometido, ha um culpado a piocurar; a suspeita vai primeiro buscan aquele que teve um mofivo part cular um interesse superior, uma faciiidade especial: aquele que e maculado poi uma ma reputa^ao ou que deu prova.\ de analogas disposi^oes, etc. ...
Ellero resumiu as qucstoes neste afonsmo: Ninguem delinqiie sem mottvo. e, com maior razao. ninguem, em comciencta, obra em prejuizo ou dano proprio, E enfre diversas pessoas suspeitas, diz Bentham, a circunstancia que se tira do motiuo, do carater, da situagao. indica, no caso de um deles, comparativamente aos outros homens. uma maioi probabilidade. Sao indlcibs que se nao devem desprezar.
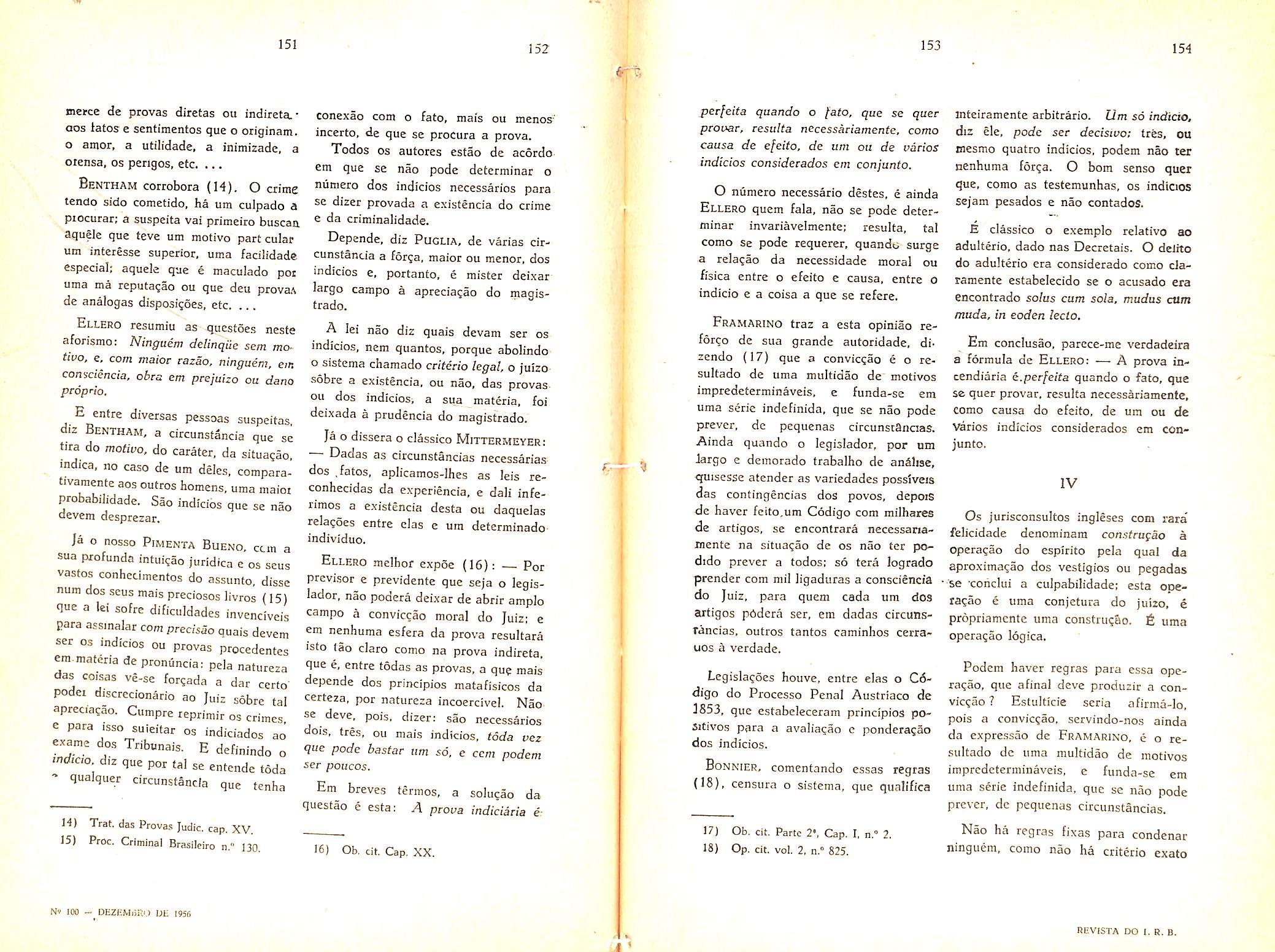
Ja o tiosso PiMENTA Bueno, ccm a sua profunda intuiqao juridica e os seus vastos conhedmentos do assunto, disse num dos scus mais preciosos livros (15) que a lei sofre dificuldades invenciveis para assinalar com precisao quais devem ser OS indicios ou provas procedentes em.mater.a de pronuncia; pela natureza das co.sas ve-se for^ada a dar certo podei discrccionario ao Juiz sobre tal aprecagao. Cumpre xeprimir os crimes e para ,sso suieitar os indiciados ao exame dos Tribunals. E definindo o inAao diz que por ta! se entende toda qualquer circunstancia que tenha
H) Trat. das Provas Judic, cap, XV.
15) Proc. Criminal Brasileiro n." 130.
conexao com o fato, mais ou menos' incerto, de que se procura a prova. Todos OS autores estao de acordoem que se nao pode determiner o numero dos indicios necessaries para se dizer provada a existencia do crime e da criminalidade.
Depende, diz PuGLiA, de varias cir cunstancia a forga, maior ou menor, dos indicios e, portanto, e mister deixar largo campo a apreciagao do magistrado.
A lei nao diz quais devam ser os indicios, ncm quantos, porque abolindo o sistcma chamado criteria legal, o juizo sobre a existencia, ou nao, das provas ou dos indicios, a sua materia, foi deixada a prudencia do magistrado.
Ja o dissera o classico Mittermeyer: Dadas as circunstancias necessarias dos .fatos, aplicamos-lhes as leis reconhecidas da experiencia, c dali inferimos a existencia desta ou daquelas relagoes entre das e um determinado individuo.
Ellero melhor expoe (16): Por previsor e previdente que seja o legisladcr, nao podera deixar de abrir amplo campo a convicgao moral do Juiz; e em nenhuma esfera da prova resultara isto (ao claro como na prova indireta. que e, entre todas as provas, a qu? mais depende dos princlpios matafisicos da certeza, por naturcza incoercivd. Nao. se deve. pels, dizer: sao necessarios dois. ties, ou mais indicios. toda vez que pode bastar um so. e ccm podem ser polices.
Em breves termos, a solugao da questao e esta: A prova indiciaria e-
perfeita quando o fato, que se quer provar, resulta nccessariamente, como causa de efeito, de um ou de varios indicios considerados em conjunto.
O niimero necessario destes, e ainda Ellero quern fala, nao se pode determinar invariavelmente; resulta, tal como Se pode requerer, quando surge a rdagao da necessidade moral ou fisica entre o efeito e causa, entre o indicio c a coisa a que se refere.
Framarino traz a esta opiniao reforgo de sua grandc autoridade, dizendo (17) que a convicgao e o resultado de uma multidao de" motivos impredeterminaveis, e funda-se em uma serie indefinida, que se nao pode prever, de pequenas circunstanaas. Ainda quando o legislador, por um Jargo e demorado trabalho de anSlise, <TUisesse atender as variedades possiveis das contingencias dos povos, depoiS de haver fcito.um Codigo com milhares de artigos, se encontrara necessanamente na sitiiagao de os nao ter podido prever a todos: so tera logrado prender com mil ligaduras a consciencfa • do Juiz. para quern cada um dos wtigos pOdcra ser, em dadas circunsrancias, outros tantos caminhos cerrauos a verdade.
Legislagoes houvc, entre elas o C6digo do Processo Penal Austriaco de 3853, que estabeleceram principios poaitivos para a avaliagao c ponderagao dos indicios.
Bonnier, comentando essas regras (18), censura o sistema, que qualifica
J7) Ob. cit. Partc 2\ Cap. I, n,° 2.
18) Op. cit. vol. 2, n." 825.
inteiramente arbitrario. Um so indicio, diz ele, pode ser decisivo: tres, ou mesmo quatro indicios, podem nao ter nenhuma forga. O bom senso quer que, como as testemunhas, os indicios sej'am pesados e nao contados.
E classico o exemplo relative ao adulterio, dado nas Decrctais. O delito do adulterio era considerado como claramente estabelecido se o acusado era Cncontrado solus cum sola, mudus aim muda,in eoden lecio,
Em conclusao, parcce-mc verdadeira a formula de Ellero: —- A prova incendiaria e.perfeita quando o fato, que se quer provar. resulta neccssariamente. como causa do efeito, de um ou de Varios indicios considerados em conjunto.
IV
Os jurisconsultos ingleses com rara" felicidade dcnominam construgao a operagao do espirito pela qual da aproximagao dos vestigios ou pegadas • se xohclui a culpabilidade: esta ope ragao e uma conjctura do juizo, e propriamcnte uma construgao. t uma operagao logica.
Podem haver regras para essa ope ragao, que afinal deve produzir a con vicgao ? Estulticie scria afirma-lo, pois a convicgao, servindo-nos ainda da expressao de Framarino, e o resiiltado dc uma multidao de inotivos impredeterminaveis, e funda-se em uma serie indefinida. que se nao pode prever, de pequenas circunstancias.
Nao ha regras fixas para condenar ninguem, como nao ha criterio exato
para determinar o grau de convic^ao ou a certeza; chega-se a este resultado por uina opera^ao do pensamento, quer se trate de provas rcais, qaer de provas pessoais, quer de indicios ou circunstancias, — dadas as circunstancias necessarias de um fato, aplicamos-lhes as leis reconhccidas da experiencia. e dai inferimos a existencia destas ou daquelas rela^ocs cntrc eias c um dctcrminado individuo.
A certeza que deve servir de base ao juizo e a senten?a dp niagistrado, socorre-nos ainda' Framarino, nao pode scr outra scnao sem cuja posse se acha o Juiz — a ccrfeza conio estado proprio de sua alma.
O que se exige, entre outras condieoes, e que essa convicgao seja tal que OS fatos e as provas, submctida.s ao juizo desinteressado de quolquer outra pessoa razoavel, produziriam neles a mcsma certeza que hao produzido no Juizo. 6 o que se chania o caralcr social, a socialidadc da conviccao, que deve andar reunida as condiQocs de publicidade c motiuagSo.
Rcunidas estas fres condi?6es, nao ha razao para se desprezar a prova indiciaria, que nao e melhor nem pior do que outra quolquer cspecie de provas: no contrario, chcgou-se ate a denominar as circunstancias — testemanhas mndas. d gnas de mais ocentuada fe, muitas vezes, do que o testcmunho humano, direto e pessoal.
Entendem alguns, porem, que contravem a esses conceitos a disposigao do art. 67, do Codigo Penal, que diz 0 scguinte: «Nenhuma presungao, por mais veemente que seja, dara lugar a imposi^ao de pena.»
Licito nao e, porem, confundir indicio com presun^ao.
Ha, em verdade, a respeito, duas teorias. Entcndem alguns que a presun?ao nao se distingue do indicio, e sao, antes, uma e nicsma coisa.
Pensam outros que a prcsun(;ao nao so nao e indicio, como ainda nao e prova de modo ncnhum, mas um meio de certeza esfranho a prova.
Mas 0 que parccc certo a FramaRINO (19), e ainda ncstc ponto cstnmos dc picno acordo, e que os escritores. que confundem a presuncao com o indicio, tem se deixado dominar pela Hnguagem vulgar, a qua!, por sua vez, se dcixou pcrtuibar pela ctimologia indeterminada da palavra.
A linguagem comttm nao tern dado
Q palavra pt esiingao scnao um sentido muito gcral c indcterminado, que se explica como tantas outras coisas.
O scntir comum alimcnta-sc de visocs intuitivas, c se tem o poder para as sinteses, nao o tem para as analises.
Os proprios sustcntadorcs desta opiniao, quando se encontram defronte de algumas prcsun^oes vcrdadeiras, nao sabem como chama-las indicios; jamais, por excmplo, se podera chamar indicio a presuncao de inocencia do acusado enquanto se nao prova o contrario.
Ve-se bem que essa afirma^ao de identidqde nao se funda em uma convic^ao logica, mas dcriva simplesmente da falta de percepgao das diferen^as substanciais que existem entre indicio e presuncao. Nega-se, em geral, a
distin^ao entre um e outro porque nao se a]can?am-as noQocs diferenciais, e logo, quando se contempla em par ticular uma verdadeira presungao, nao ha base para chama-la indicio. porque a razao vislumbra, embora de um modo indetcrminado, que ha ncia algo de especial, que se opoe a sua confusao com o individuo.
JoAO Monteiro, o mais eminente dos proccssualistas contemporaneos (20), define as prcsungoes — as conjecturas que a lei ou o Juiz tira, por conscquencia indireta da rciteraqao de fatos conhecidos, para afirmar a exis tencia do fato que sc pretende provar.
E na nota, rica de erudigao e de citagoes, acrescenta: «Nao raro sc vera confundir prcsungoes com indicios. Distinguem-se, porem. Estas, para usar das expressoes dc Carrara (21), sao circun.9fancias que nos revelam, pela conexao que guardam com o fato probando, a existencia deste mcsmo fato: aquelas, exprimcm a propria pcrsuassao desta existencia. O indicio e um —• mcio. a presungao um ■— re sultado.
todo 0 mundo. Referia-se aos processos^ cheios de formalidades blsantinas. em vigor na epoca em que escrcvia: mas a verdade e que grande soma dos erros que via e censurava ainda persistem hoje. atraves de todas as reformas e do trabdlho evclutivo do processo penal.
Em caso de incendio, ao menos no Distrito Federal, a regra predominante e a geral impunidade, e uma quase anistia. j& se chegou a suprimir o sumario dc culpa. isto e, a propria agao criminal, que nao se intenta.
Parcce que a jurisprudencia transformou-se nessa arte de que fala Bentham. Entrctanto, e fato incgavel que um crime impunc produz outro crime, quando nao seja pela lei da imitagao, cujo processo Tarde dcsenvolveu, sera pela fraca intimidagao, ou -antes, -pela grande probabilidade ou quase certeza da impunidade.
Bentham disse com muita malicra que a jurisprudencia e a arte de ignorar metddicamente o que e conhecido de
20) Thcoria do Proc. Civ, e Comm. II § 174.
21) Programa. 5 965.
A escola positivista, de que LomBROSO foi o criador e Ferri o sistematizador c difusor, tem trabalhado incessantemcnte no sentido de estabeleccr um equilibrio racional entre os direitcs do individuo c os da sociedade: cstcs nao tem defesa no processo penal vigente. Perecem na benevolencia dos magistrados.
(Transcrito da Revista de Direito. volume VIII, ano de 1908).

• Em todos OS seguros — sem se excetuar o de incendio — a tarifa de premies e elemento secundario; o basico c a apolice, tanto em seu aspecto legal, como no tecnico e no funcionnl. A apolice de seguros e sua tarifa de pieniios devem formar urn todo harnionico em seus aspectos legais, tecnitos e funcionais, nao se podendo falar dc uma tarifa-padrao. ou linica como e, cbamada, se nao se fundamentar em lima apolice-padrao ou linica.
elementar que u a maior ou menor amplitude no texto dc qualquer das ciausulas ou anexos da apolice (ate niesmo a simples troca de uma de suas pa'avras ou frases) pode redundar na ampliagao ou restri^ao da garantia oierecida — cobertura do risco — fato que acarretaria um aumento ou reducao na cotizagao do premio.
Assim. pois, nao consideramos de maneira alguma suficiente que, como acontece atualmente entre nos, todas as apohces se pare<;am muito. sendo. an contrario, necessario que (dcfas sejam exatamentc iguais, para que possam sustentar uma tarifa-padrao.
Nao deve ser esquecido que a ga rantia ampla oferecida pelo contrato do seguro deve ser equivalente ao premio colirado e que, portanto, nao podem
subsistir premios-padrao senao a base oe condigoes contratuais tambem linicas. Se a expeirencia de alguns paises esirangeiros, onde a obrigatoriedade oa aplicagao do premio por meio da larda-padrao se baseia em uma apoli ce-padrao, tem demonstrado ser neces sario manter servigos de verificagad ou comprovagao de riscos para evitar mas c'assificagocs fnuo/iintarias — que as mais das vezes se revelam voluntarias
— a que ficariam expostos os seguradores de paises nos quais se pretende impor tarifas de premios. rigidas e obrigatorias, deixando, por outre lado, campo livre para modificagoes das garantias do seguro por simples condigoes adicionais cujos textos, muitas vezes, nem sequer foram aprovadas ou dados a conhecer as autoridades competentes?
Antes de prosseguir, repitamos os conceitos que o advogado-segurador Reyes P. Aldave emite sobre a apolice e a tarifa: «A apolice de seguros, na qual se contrata a garantia que o segurador presta ao segurado, e o documento juridico em que se'solidilicam as obrigagoes mutuas e os direitos e, portanto, pega importantissima no me-
canismo total mediante o qual se torna possivel a existencia da garantia. Porem a tarifa e a outra pega mestra. ja que represenfa nada menos que o resumo dos calciiios economicos realizados pelo segurador para a montagem. a marcha dessc mccanismo c a c[etii'idade do pagamento da garantia OjCrecida quando chegado for o momento previsto», (o.s grifos sao do citador).
A apolice-padrao e necessaria em todos OS seguros, principalmentc no dc incendio, quando existc tarifa-pa drao, a fim de se poderem coordenar as ciausulas daquela com as classificagoes, disposigoes e ciausulas contidas nesta. A apolice-padrao nos pennite. assim, manter um contrato de seguro com redagao e, conseqiientemente, com garantias unifonnes. £ de se advertir que quando nos referimos a apolice, incluimos, tambem. todos os seus nnexcs. endossos. ciausulas adicionais etc.
As apolices que temos atualmente em vigor, em sua maioria — para nao dizer na totalidade — .sao tradugoes quase literals das usadas no cstrangeiro e contcm ciausulas cuja interpretacao nao e apenas dificil para o se gurado, como para os proprios seguradores e. portanto. necessitam dc uma revisao profunda; e necessario e conveniente que suas condigoes gerais e especiais sejam exatamenle iguais para haver, tambem. a tarifa-padrao ou unica. e que ambas, apolice e tarifa. coordenadas. evitem uma concorrcncia desleal e prejudicial que poderia produzir-se pelo fato de algumas das apolices contcrcm condigoes favoraveis ao segurado nao obstante os gen-
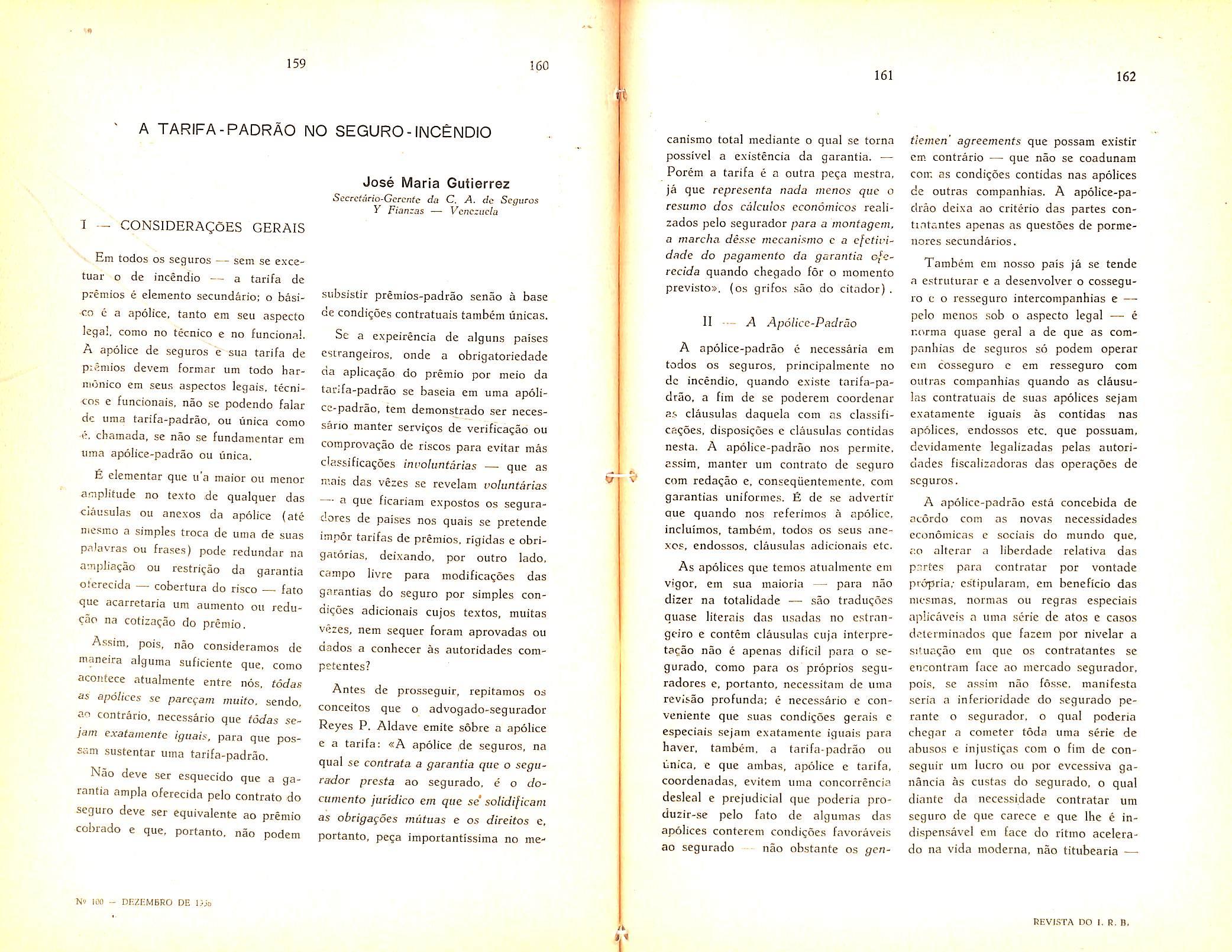
tlemen agreements que possam existir cm contrario — que nao se coadunam com as condigoes contidas nas apolices de outras companhias. A apolice-pa drao deixa ao criterio das partes conti.ntantes apenas as questoes de pormenores secundarios.
Tambem em nosso pais ja se tende a estriiturar e a desenvolver o cosseguro c o resseguro intercompanhias e pelo menos sob o aspecto legal — e norma quase geral a de que as com panhias de seguros so podem operar em cosseguro e em resseguro com outras companhias quando as ciausu las contratuais dc suas apolices sejam exatamente iguais as contidas nas apolices, endossos etc. que possuam, devidamente legalizadas pelas autori dades fiscalizadoras das operagocs de seguros.
A apolice-padrao esta concebida de acordo com as novas necessidades econoinicas e sociais do mundo que. ao alterar a liberdade relativa das pnrtes para contratar por vontade piopria; cs'tipularam, cm beneficio das nu-smas. normas ou rcgras especiais aplicaveis a uma serie de atos e cases determinados que fazem por nivelar a situagao em que os contratantes se encontram face ao mcrcado segurador. pois. se assim nao fosse, manifesta serin a inferioridade do segurado perante o segurador. o qual poderia chegar a cometer toda uma serie de abuses e injustigas com o fim de conseguir um lucre ou por evcessiva ganancia as custas do segurado. o qual diantc da necessidfide contratar um seguro de que carece e que Ihe e indispensavel em face do ritmo acelerado na vida moderna, nao titubearia —■
ou melhor. nao pode titubear — ?erante quaisquer condi^oes que Ihe fossem impostas e se veria forgado a aceita-las com prejuizo flagrante para a sua situa^ao economica, situaQao esta que o Estado, como escudeiro fiei da justiga e da moral economica. esta obrigado a defender.
Por tal sistema de apolice-padrao temos que ja se decidiram — no ramo Incendio — os seguradores da grandc maioria dos paises latino-americanos de expressao no com.crcio de scguros, com um exito por demai.s satisfatorio .sob todos OS aspectos.
Cabe aqui anotar o que, sobre apolices-padrao. comcnta o Dr. Manuel Maria Escobar em sua obra «Los Seguios» a pagina 31; «A apolice uniforme». — Em 1886, o LegisJativo do Estado de Nova York animou a Junta de Seguradores de Incendio desse Es tado a redigir uma apolice iinifornie que servisse de modelo para a ce!cbrai^ao dos contratos de seguros. A Junta designou uma Comissao integrada por cntendidos cm seguros que se encarregou da reda^ao do documento. Foi um trabalho muito aplaudido. poi.s que se baseou. principalmente, nas proVfilosa.s ligoes da expericncia, Conicgou a vigorar em Nova York pouco depoisVinte e cinco Estados da Uniao Ame ricana nao tardaram a aceita-la, Outros Estados que ja possuiam apolice.s uniformcs adaptaram-nas a de Nova Yorks.
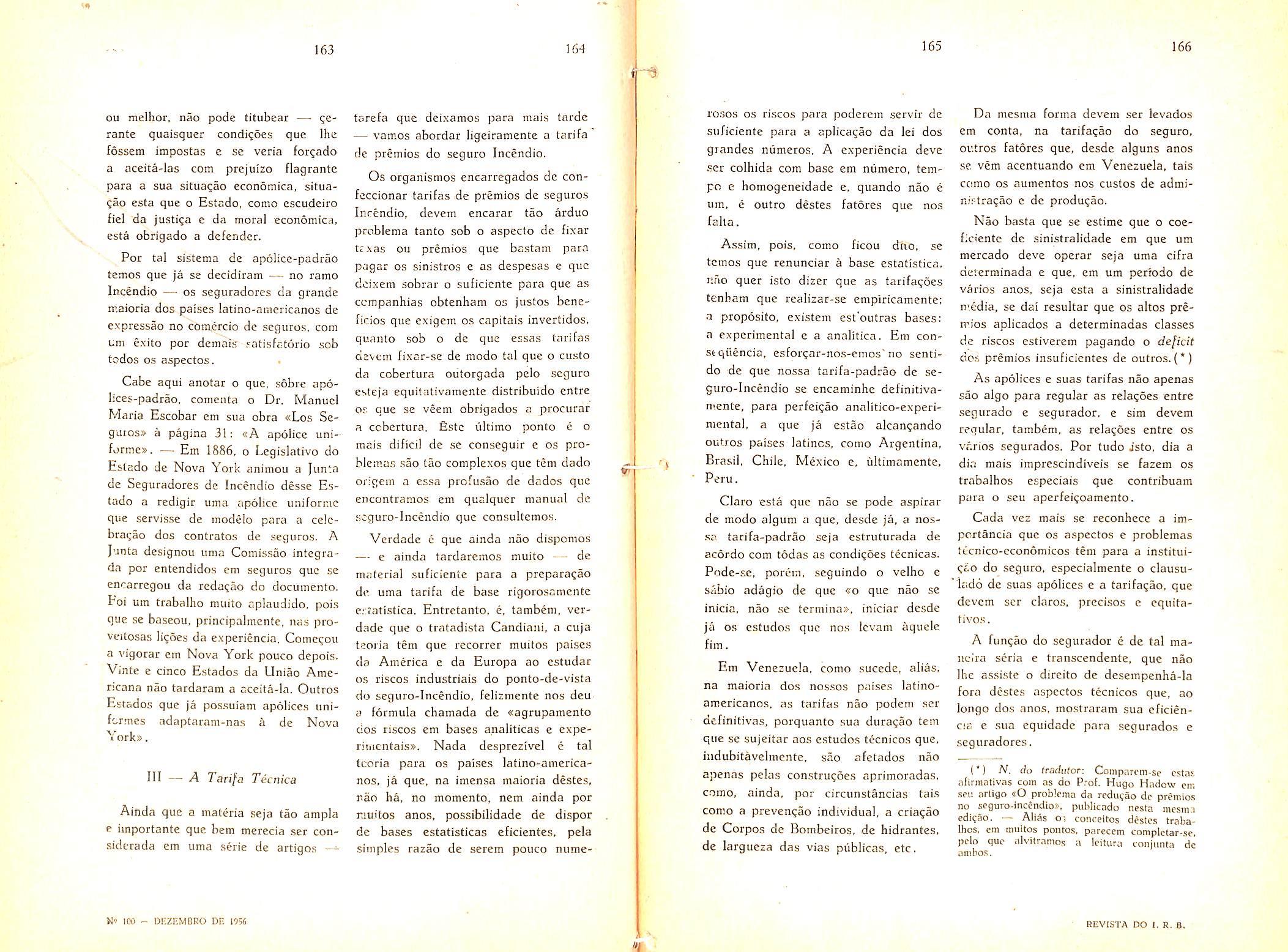
Ainda que a materia seja tao ampla e importante que bem merecia ser considcrada em uma .serie de artigos
tr.refa que deixamos para mais tordc — vamos abordar ligeiramente a tarifa de premios do seguro Incendio, Os organismos encarregados de confeccionar tarifas de premios de seguros Incendio, devem encarar tao arduo problema tanto sob o aspecto de fixar trxas ou premios que bastam para p.-jgar os sinistros e as despesas e que dcixem sobrar o suficiente para que as ccmpanhias obtenham os justos beneficios que exigcm os capitais invertidos, quanto sob o de que essas tarifas devem fixar-se de modo tal que o custo da cobertura outorgada pclo .seguro esteja equitativamente distribuido cntrc o.s que se veem obrigados a procurar a cobertura. £stc ultimo ponto c o mais dificil de se conseguir e os probiemas sac tao complexes que tern dado origem a essa profusao de dados que encontramos em qualquer manual de scguro-lncendio que consultemos.
Verdadc c que ainda nao dispcmos — e ainda tardaremos muito de material suficiente para a prcparagao de uma tarifa de base rigorosamente estatistica, Entretanto, e. tambem, verd.ade que o tratadista Candiaiii. a cuja teoria tem que recorrer muitos paises da America e da Europa ao estudar OS riscos industrials do ponto-de-vista do seguro-Incendio. felizmente nos deu a formula chamada de «agrupamento dos ri.scos em bases analiticas e cxperiiiicntais». Nada desprezivel e tal tcoria para os paises latino-america nos. ja que, na imensa maioria destes, nao ha, no momento, nem ainda por muitos anos, possibilidade de dispor de bases cstatisticas eficientes, pela simples razao de serem pouco nume-
rosos OS ri.scos para poderem servir de suficiente para a aplicacao da lei dos grandes niimeros, A experiencia deve .ser colhida com base em niimero, tem po e homogeneidade e. quando nao e um, e outre destes fatorcs que nos falla.
Assim, pois. como ficou dfio. se temos que renunciar a base estatistica, itao quer isto dizer que as tarifagoes tenbam que rea!izar-se empiricamente: a proposito. existem est'outras bases; a experimental e a analitica, Em constqiiencia, esforgar-nos-emos"no sentido de que nossa tarifa-padrao dc sc guro-lncendio se encaminhc definitivamente, para perfeigao analitico-experinicntal, a que ja cstao akangando outros paises latinos, como Argentina. Brasil, Chile, Mexico c. ultimamente. Peru.
Clare esta que nao se pode aspirar de modo algum a que, desde ja. a nos•sa tarifa-padrao seja estruturada de acordo com todas as condigoes tecnicas. Pode-sc, porem, seguindo o velho c s.Ybio adagio de que «o que nao se inicia, nao se termina». iniciar desde ja OS estudos que nos Icvam aquele fim.
Em Venezuela, como sucedc, alias, na maioria dos nossos paise.s latinoamericanos, a.s tarifas nao podem ser definitivas. porquanto sua duragao tem que se sujeitar aos estudos tecnicos que, iiidubitavelmente. sao afctados nao apenas pelas construgoes aprimoradas, como. ainda, por circunstancias tais como a prevengao individual, a criagao de Corpos de Bombeiros, de hidrantes, de largueza das vias piiblicas, etc.
Da mesnia forma devera ser levados em conta, na tarifagao do seguro. outros fatores que, desde alguns anos se vem acentuando em Venezuela, tais como OS aumentos nos custos de admin.4 tragao e de produgao.
Nao basta que se estime que o coeficiente dc sinistralidade em que um mercado deve operar seja uma cifra deverminada e que, em um periodo dc varios anos, seja esta a sinistralidade media, se dai resultar que os altos pre mios aplicados a determinadas classes de riscos estiverem pagando o deficit ctc.s premios insuficientes de outros.(')
As apolices e suas tarifas nao apenas sao algo para regular as relagoes entre ■segurado c segurador, c sim devem reqular, tambem, as relagoes entre os vT.rios segurados. Por tudo jsto, dia a din mais imprescindiveis se fazem os trabalhos especiais que contribuam para o seu aperfeigoamento.
Cada vez mais se reconhece a impcrtancia que os aspectos e problemas tkcnico-economicos tem para a instituiqio do .seguro, especialmente o clausulado de suas apolices e a tarifagao, que dcvcm scr claro.s, preci.sos e equitativo-s.
A fungao do segurador e de tal maiieira scria e transcendente, que nao Ihc assiste o direito de desempenha-la fora destes aspectos tecnicos que, ao longo do.s anos, mostraram sua eficiencis e sua equidade para segurados e seguradores.
(*) N. do tradiitor: Comparem-sc cstns afirmativns com as do P.-of, Hugo Hndow cm sou arligo «0 problema da redugao dc premios no scguro.inccndio», publicado nesta mesnia edigao. — Alias o-. conceitos destes traba lhos, em muitos pontos, parecem completar-se, pclo quo alvitramos n Icitura conjunta dc ambos.
Devido ao fato de que a Tarifa-Padiao de Seguro-Incendio atualmente em vigor e, em sua estrutura geral, a mesma que vinha regendo, pode-se dizer, desde que, em Venezuela, se iniciou o controle do Seguro pelo Estado, ibto em 1935, ha vinte anos passados, consideremo-Ia padecente de muitas falhas de ordem tecnica e funcional, quando a comparamos com as de Espanha, Argentina, Brasil. Chile, Cuba, Equador, Mexico, Peru etc. Em seguida, observaremos algumas dessas fa lhas que consideramos «de forma» deixando para melhor oportunidadc os comentarios mais detidos, e «de fundo», que cremos bem merece materia tao importante.
Todas as tarifas estudadas so encontram devidamente articuladas e divididas em capitulos, com o correspondente indice. De tudo isto carece a nossa, o que dificulta e torna demorada a procura de qualquer classifica^ao.
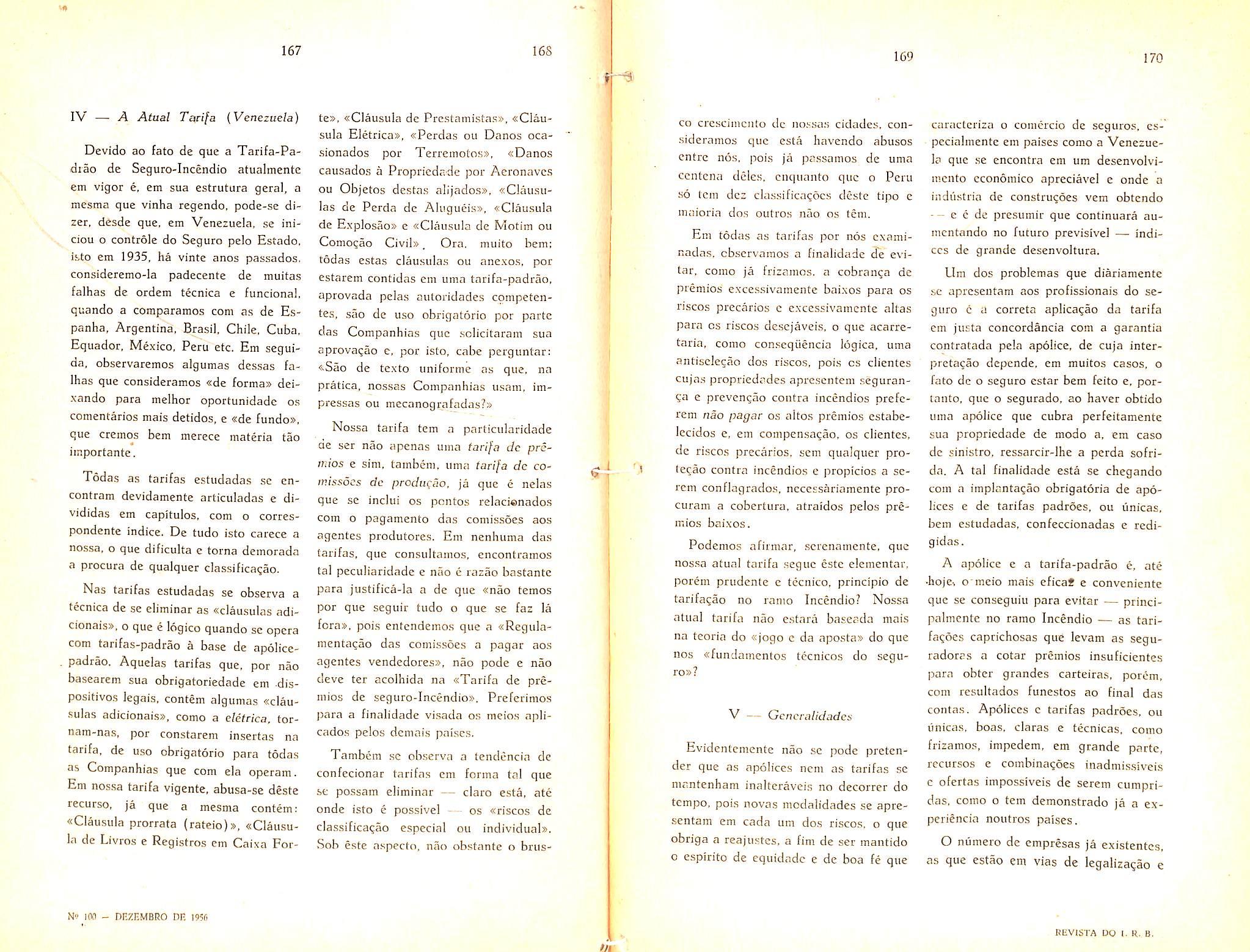
Nas tarifas estudadas se observa a tecnica de se eliminar as «clau.sulas adicionais», o que e logico quando se opera com tarifas-padrao a base de apolicepadrao. Aquelas tarifas que, per nao basearem sua obrigatoriedade em -dispositivos legais, contem algumas «clausulas adicionais», como a eletcica. tornam-nas, por constarem insertas na tarifa, de uso obrigatorio para todas as Companhias que com ela operam. Em nossa tarifa vigente, abusa-se deste recurso, ja que a mesma contem: «Clausula prorrata (rateio)», «Clausu!a de Livros e Registros em Caixa For-
te», «Clausula de Prcstamistas», «Cl3usula Eletrica», «Perdas on Danes oca■sionados por Terremotos», «Danos causados a Propricdadc por Aeronavcs ou Objetos destas alijados», «Clausiilas de Perda de Alugueiss, «Clausula de Explosaoa c «Clausula de Motim ou Como?ao Civil». Ora, muito bem; todas estas clausula.s ou anexos, por estarem contidas cm uma larifa-padrao. aprovada pelas aiitoridades competentes, sao de uso obrigatorio por partc das Companhias que .solicitarani sua aprova^ao e, por isto, cabe perguntar; <>Sao de texto uniforme as que, na pratica, nossas Companhias usam, impressas ou mccanografadas?»
Nossa tarifa tem a particularidade de ser nao apenas uma tarifa dc prcinios e sim, tambeni, uma tarifa dc coinissoes de producao. ja que e nelas que se inclui os pontos relacienados com 0 pagamento das comissoes aos agentes produtores. Em nenhuma das tarifas, que consultamos, encontramos tal peculiaridade e nao e rarao bastantc para justifica-la a dc que «nao temos por que seguir tudo o que se faz la fcra». pois entcndemos que a «ReguIamentagao das comissoes a pagar aos agentes vendedores», nao pode e nao deve ter acolhida na «Tarifa de preniios de seguro-Incendio». Preferimos para a finalidade visada os meios aplicados pelos dcmai.s pai.ses.
Tambiim se observa a tcndencia de confecionar tarifas em forma tal que se possam eliminar — claro esta, ate onde isto e possivel - -- os «riscos de cla.ssifica(;ao especial ou individuals. Sob este aspecto, nao obstante o brus-
CO ocsciinciilo dc no.'-.sa.s cidades, con sideramos que esta luivendo abuses cntrc nos, pois ja pcssatnos de uma ccntena deles, cnqiianto que o Peru so Icm dcz classifica^dcs deste tipo c maioria dos ouiros nao os tern.
Em todas as tarifas por nos cxaminadas, cbscrvamos a finalid£ide de evitar. como ja frizamos, a cobran^a de premios excessivamente baixos para os riscos precarios c excessivamente altas para cs riscos desejaveis, o que acarretnria, como conseqtlencia logica, uma antisclecao dos riscos, pois cs clientes cujas propriedades aprcsentem seguran<ia e prevenijao contra incendios preferem nao pagar os altos premios cstabelecidos e, em coinpensagao, os clientes, de riscos precarios, sem qualquer proteqao contra incendios e propicios a sercm conflagrados, nccessariamente procuram a cobcrtura, atraidos pelos pre mios baixos.
Podemos afiimar, screnamente, que nossa atual tarifa .^egue estc elemental', porem priidente c tecnico, principio de tarifagao no ramo Incendio? Nossa atual tarifa nao estara baseada mais na tcoria do «jogo e da apostas do que nos «fundamenlos tecnicos do seguro»?
V - - Gcncralidadci;Evidenteniente nao se pode preten der que as apolices ncm as tarifas se nir.ntenham inalteraveis no decorrer do tempo, pois novas raodalidades se apresentam em cada urn dos riscos, o que obriga a reajustcs. a fim de ser mantido o espirito de equidadc e de boa fe que
caractei'iza o comcrcio de seguros, especialmente em paises como a Venezue la que se encontra em um desenvolvimcnto cconoinico aprcciavei e onde a indi'istrin de constru^oes vem obtendo - — e c de presumir que continuara aumcntando no fuiuro previsivel — indi ces de grande desenvoltura.
Um dos problemas que diariamente sc aprcsentam aos profissionais do se guro c a correta aplicagao da tarifa em justa concordancia com a garantia contratada pela apolice. de cuja interpreta^ao depcnde, era muitos casos, o fato de o seguro cstar bem feito e, porlonto, que o segurado, ao haver obtido uma apolice que cubra perfeitamente sua propriedade de modo a, em caso de sinistro, ressorcir-lhe a perda sofrida. A tal finalidade esta se chegando com a implnnta^ao obrigatoria de apo lices c de tarifas padroes, ou unicas. bem estudadas, confeccionadas e redigidas.
A apolice c a tarifa-padrao e, ate •hoje^ o meio mais eficaf e conveniente que se conseguiu para evitar — principalmente no ramo Incendio — as tarifaijoes caprichosas que levam as segurador5.s a cotar premios insuficientcs para obter grandes carteiras. porem, com resultados funestos ao final das contas. Apolices c tarifas padroes, ou unicas, boas, claras e tecnicas. como frizamos, inipedem, em grande parte, rccursos e combina?6es inadmissivei.s c ofertas impossiveis de serem cumpridas, como o tem demonstrado ja a expcricncia noutros pai.ses.
O numero de empresas ja existentcs, as que estao em vias de legaliza^ao e
as quc. em future proximo possam estabelecer-sc, nos deixa vislumbrar sc e quc ja nao nos encontramos nc!a — uma concorrencia que, como qualquer outra concorrencia. e conveniente ate ccrto ponto, sempre e quando se processa leal e franca c, sem sair dos limites da legalidade e da etica, benefica ao segurado, porem sem ir ao cxtremo de a longo prazo resultar em prejuizo para cstc e em desprestigio do seguro como instituiqao.
Recordemos, tambem, a mudanga do meio fisico que, tao brusca e radicalmente se esta operando em Venezuela, o qual, como fator decisive na tarifa?ao do seguro-Incendio, obriga-nos a toma-lo em linha de conta e a manter se possivel cm carater permancntc estudos de fundo para poder efetuar as modifica?6es que forem exigindo a apolice e sua tarifa, Quando os seguradores nao queiram ou nao possam tomar o bom caminho em beneficio da qualidade de seu comercio e dos resultados normals do mesmo, entao e preciso que o Estado, — que tern o dever de proteger o segurado e o seguro, como institui^ao nacional, — tome as providencias que 0 case requer, a fim de que «as aguas corram per seus leitos normais».
O comercio do seguro, com uma rcgulamenta^ao governamental bem aplicada, tenha sobre os demais comercios a vantagem de sua mercadoria-base ser sempre boa: premios equitativos ao se gurado, de acordo com as garantias reais que Ihe sao dadas e suficientes para o segurador, porquanto cobrcm os
riscos. sun administra^no c suas evehtualidades, tais como os excesses de sinistros. pcrdas de valores, gastos imprevisfos, juros dos capitals invertidos, etc.
Por quotas?
Ainda que nao se enquadre propriamcnte no tema tratado, nao queremos deixar cscapar-nos esta oportunidade — ja que de seguro-Incendio se trata — para comentar, tambem, os rumores de que algumas Companhias, quc operam no ramo, prctendem impor em suas apolices, como condi^ao contratuai, a de que. ao ocorrer o sinistro, o pagamento da indenizagao podera fazer-se a prazo ou cm parcclas periodicas.
A par dc que tal faculdade nos c completamentc desconhecida como pratica de algum pais • ncm sequer em alguma Companhia - considcramo-la despida de toda tccnica e mesmo de simples logica; queremos crer que sua implanta(;ao entre nos podera resultar, funesta ao nosso nascentc e vigoroso comercio de seguros.
Nao temos duvida alguma de que tal sisteraa de pagamento dc indeniza^ao r.ervira tao somente para Icvar ao animo da massa de scguradcs a triste convicqao dc quc ha dcbilidade financcira cm nossas seguradoras, desvirtuando-se, assim, por complete, essa confian^a plena e o conceilo de segurcn^a. moral c cccnomica, de que, ate aqui, gozaram as nossas Empresas de Seguros nos difercntcs setores economicos e socials do pais.
Os parlidarios da medida que comentamos, firmam-se, principalmente, no prcssuposto de que as Companhia.s Sequradoras podein ver-se cm apuros quando, ao ocorrer urn sinistro de vulto, se Ihes exija o pagamento das indenizagoes para data certa c determinada.
Pode-se dizer que tal problema -• indicativo de que ja o nosso seguro opera em grande escala — se aprcsenlou em todos os paises e nao sabemos de nenhum deles em quc fosse tentado resolve-lo dessa maneira.
Conhecemos varias solu^oes, porcm so mencionaremos as duas que nos pareccm basicas: a primeira, de ordem interna das seguradoras (embora saibamos que, em alguns paises, ja se ache tal medida oficializada) e a outra, de ordem exclusivamente governamental.
A primeira basea-se no principio tecnico de que o ressegurador devc seguir a sortc do cedente e claro esta que. tendo 0 .segurador direto assumido a obrigagao do pagamcnto imcdiato, que c Idgico e legal - o ressegurador seja tambem obrigado ao pagamento imcdiato c oportuno. Nao deve olvidarsc que, fundamentalmente, o ressegu rador nada mais e que, simplesmenle, um segurador do segurador.
Quanto a segunda, ou seja a de or dem governamental, e a de a autoridade controiadora obrigar as seguradoras a manter. em dinheiro efetivo c em va lores de iincdiata realizagao um montante que oscila de acordo com a receita de premios do exercicio anterior.
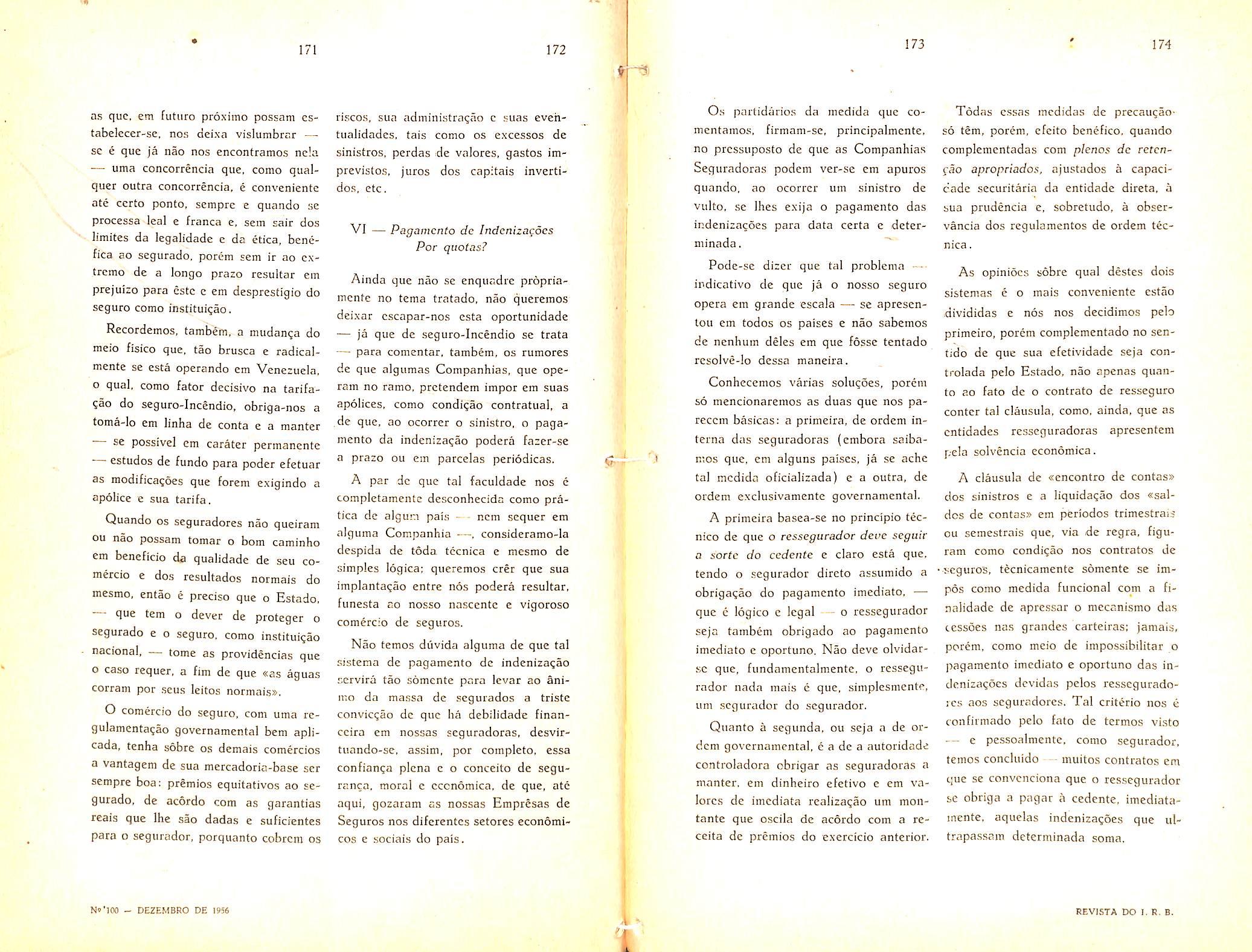
Todas e.ssas incdidas de precaugaos6 tern, porem, cfcito benefico, quando complementadas com plenos de refcnrao apropriados, ajustados a capacicade sccuritaria da entidade direta, a sua prudencia e, sobrctudo, a observancia dos regulamcntos de ordem tecnica.
As opiniocs sobre qual destes dois sistema.s e o mais conveniente cstao divididas e nos nos decidimos pelo primeiro, porem complementado no sentido de que sua efetividadc seja controlada pelo Estado, nao apcnas quan to ao fate de o contrato de resseguro center tal clausula, como, ainda, que as cntidades resscguradoras apresentcm pela solvcncia economica.
A clausula de «encontro de contas» dos sinistros e a liquidai;ao dos «saldcs de contass cm periodos trimestrais ou semestrais que, via .de regra, figuram como condi^ao nos contratos de •seguros, tecnicamente somente se impos como medida funcional com a finalidade de apressar o mccanismo das tessbes na.s grandes carteiras; jamais, porem, como meio de impossibilitar o pagamento imcdiato e oportuno das indeniza^oes devidas pclos resscguradoics aos seguradores. Tal criterio nos e confirmado pelo fato de termos visto -- c pessoalmente, como segurador, temos concluido - - inuitos contratos em quc se convcnciona que o ressegurador se obriga a pagar a cedente, imediatainente. aquelas indenizagoes que ultiapassam determinada soma.
Em confirmagao do que deixamos dito a proposito da primeira solugao, vamos transcrever o seguinte: «Lima, 7 de maio de 1953. Tendo cm visia a soiicita^ao feita per «E1 Sol», Compania de Seguros Generales, em que pede aprova^ao do contrato de resseguro sobrc acidentes pessoais cclcbrado torn a «Union» Reinsurance Company, de Zurique, dentro das condi^oes no mesmo indicadas, estando os informcs submctidos ao Departamento dc Se guros e a Sec^ao Legal da Superintendencia; e, no use das afribui^oes conferidas pela Lei n. 8 793 e pelo Decrefo Supremo de 9. de julho de 1943; .se re solve; Aprovem-se as «Condiq6es Gcrais do Contrato de Resseguro sobre Acidentes Pessoaisa, celebrado por «E1 Solx. Compania de Seguros Generales, com a «Union» Reinsurance Company, dc Zurique.
Voltando ao ponto central, diremos que as consideragoes anteriores foram feitas por termos tido conhccimento de que. recenteniente, foi ratificada, atraves da Camara de Seguradores, perante as autoridades competences a .solicita^ao de aprova?ao para o projeto de Tarifa-Padrao de Incendio, apresentado em janeiro de 1954 e ate hoje nao autorizado.
Advogamos que se autorize quanto antes essa Tarifa, porem, iniciemos, de
imediato, com vistas amplas e profundas, o estudo integral de nossa apolice de seguro contra incendio e sua respectiva tarifa, a fim de conscguir, assim, urn todo harmonico que venha regular urn dos mais importantes ramos de se guro -- como e o de Incendio — por mcio de uraa apolice-padrao e de uma tarifa-padrao.
Essa finalidade. cremos possa ser Icvada a efeito, — sem que isto Ihes cause panes economicos — pelas trinta c tres companhias que, em Venezuela, opcram em seguros contra Incendio; cremos, lambem, que isto merece sc e que nao o exijam- imperiosamente
OS Bs 20 849 000,00 de premios, que. coiiforme a cstatistica governainentai, foram aufcridos, em 1953, no ramo Incendio (e que hoje devem ter aumentado consideravelmente), e os vultosos capitals segurados que correspondem a esses premios cobrados.
Submetemos a considera^ao dos colegos de mais conhecimcntos e de maior e.xperiencia as considera^oes supra, a que nos Icvaram unicamente nossos descjos de que o Instituto de Seguros Prii-ados Vcnezucletnos se va estrutrando sobre bases tecnicas, logicas c firracs que o levem a ocupar um posto destacado ao lado de seus pares da America Latina.
Traduzido dc «Seguros», orgao da Camara de Seguradores da Venezuela, n, 8, maio de 1956, por Frederico Rossner.
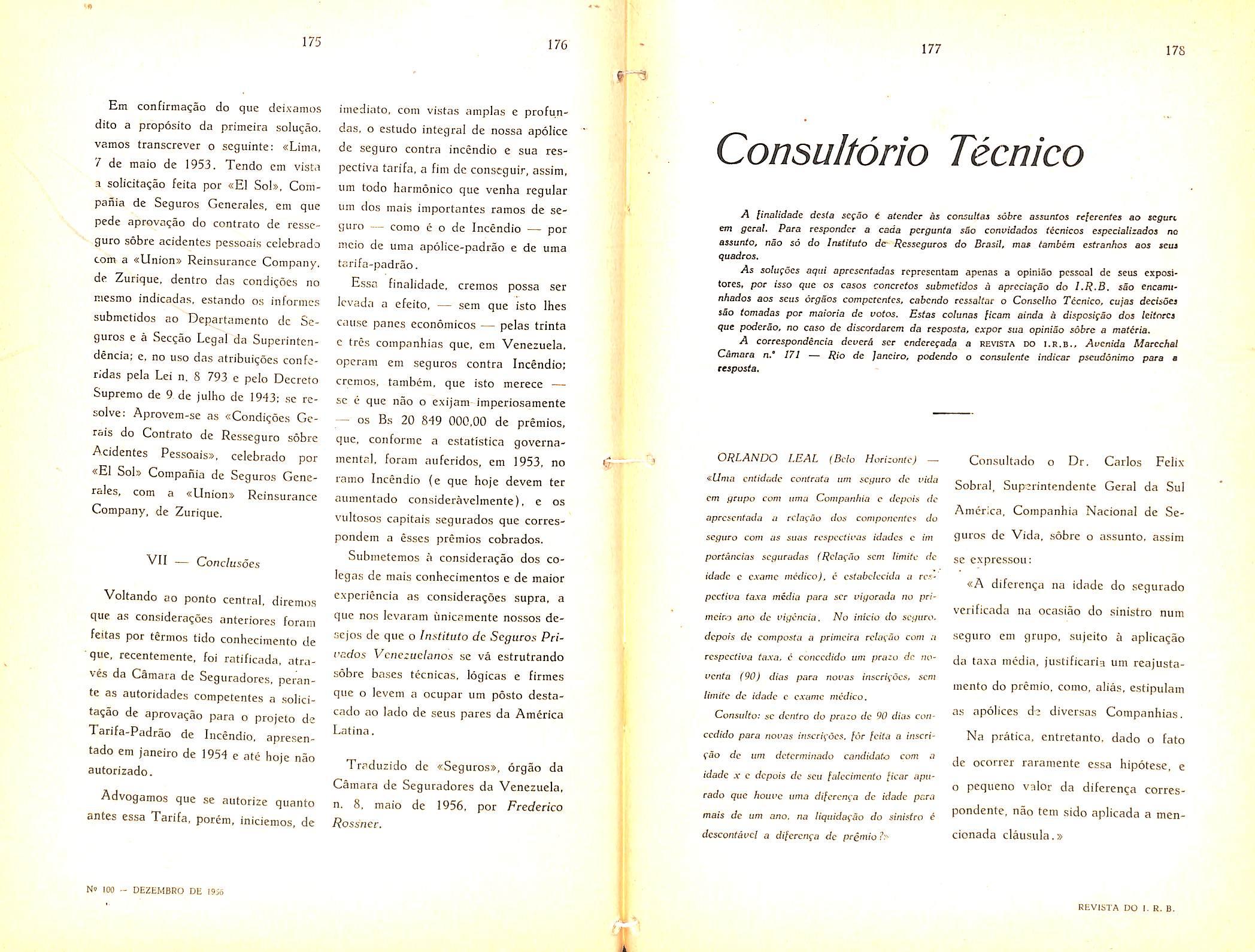
A linalidade desla st^ao 6 afendcr as consutlas sobre assuntos eelerentes ao icguri, em geral. Para respondcr a cada pcrgunta sSo convidados iecnicos especializedos no assunto, nao so do Instituto dc Rcsse^uros do BrasH, mas tambim estranhos aos seus guadros.
As solufdes aqid aprescntadas rcprcscntam apenas a opiniao pessoal de seus exposltores, por isso que os casos concrctos submctidos d aprcdajao do l.R.B. sao encaminhados aos seus drpaos compcrentcs, cabcndo rcssa/tar o Consel/io Tccnico, cujas decisOes sio tomadas por maioria de votos. Esfas colunas ficam ainda a disposi'fao dos leitnrcs que poderSo, no caso de discordarem da resposla, expor sua opiniao sdbre a materia.
A correspondencia dcveri ser enderegada a revista do i.r.b,, Aucnida Marcchal Camara n.' 171 — Rio de Janeiro, poderuio a consulcnte indicar pseudonimo para a resposta.
ORLANDO LEAL (Bcio Horizantc)
«Uma cntidadc contrata um sepiiro dc vida cm grupo com uma Companhia o depots dc aprcscntada a rdagao dos componciitcs do seguro com as suas rcspcctioas idadcs c im poctancias scguradas (Rclagao scm limitc dc idadc c c.varnc medicoj, c csfabclccida a repcctiua taxa media para scr uigoradu no primciro ano dc uigcncia. No inicio do seguro. dcpois dc composta a primeira rcUigao com a cespcctioa taxa, c conccdido um prazo dc nooenta (90) dias para novas inscrigocs. scm limitc dc idadc c cxamc medico.
Consulfo: sc dctilro do prazo dc 90 dias con ccdido para novas inscrigocs. for fcita a inscrigSo de um dofcrmiaado candidato com a idade x c dcpois dc sen lalccimcnto licar apurado qiic fiom'c iinia dtjcrcnga dc idadc para mais de um ano, na liquidagao do sinisfro e dcscontavcl a dijercnga dc premio?>'
Consultado o Dr, Carlos Felix Sobral, Superintendente Geral da Sul America. Companhia Nacionai de Se guros de Vida, sobre o assunto, assim se cxpressou:
«A difcrcn^a na idade do segurado vcrificada na ocasiao do sinistro num seguro em grupo, sujeito a aplicagao da taxa media, justificaria um reajustamento do premio, como, alias, estipuiain as apolices de diversas Companhias.
Na pratica, entretanto, dado o fato de ocorrer raramente essa hipotese, e o peqiieno valor da diferenga correspondente, nao tern sido aplicada a mencionada clausula,»
No intuito dc estrcitar eirtda mais as rela{6es cntre o Instituto de Resseguros do Brasil e as Socisdades de je^ros, atravis de itm ample noticiario pcriodico sofcre essuntoa do intcresse do mercado segurador, c qua a Revista do I. R.B. mantem esfa sc(ao.
A [inalidede principal e a divulgagSo de decisOcs do Consclbo 7'ecitco e dos orgaoi infernos que possam facilitar e orienlar a resolugio de problcmas futaros de ordcm fecm'ca e piridica, rccomenciapocs. consclhos e explicagoes quo nao deem origem a cinvlares, bcm oomo indicagao das nouas portarias e circulaees,, com a cmenta de cada uma, c oufras no ticias de careter geral.
RAMO INCfiNDlO
Novo Piano de Pesseguro Incendio
Os estudos de urn novo piano de resseguro incendio adiantaram-se grandemente. A Comissao instituida para tal fim, que teve a participaqao de tccnicos do IRB e das seguradoras aprercnfou co mercado segurador o arcaboiigo de suas conclusoes, Tecnicos do IRB foram enviados aos Sindicatos para uma cxplanaijao do assunto e a fim de esclarecer du\'idas porventura existentes.
O novo piano, em seu aspecto fun damental, permite que as sociedades estabele;am suas reten(;6es em funcao de apoiice-risco, isto e, analisa-sc cada apolice como se fora a unica existcnte sobre os bens cobertos. Para quo as seguradoras nao fiquem sujeitas ao encargo de grandes responsabilidadcs. face aqueie principio, foi imaginada uma cobertura de catastrofc, observando-se que o limite de catastrofe de cada sociedade variara em funqao da reteiiqao da tabela efetiva para o LOG do risco e do numero de retencoes tomadas nas apoiices-risco sinistradas.
Procurou a comissao de estudos atender aos anseios das seguradoras, que pleiteiam, de ha miiito, maiores
retenqoes e a implantaqao de iim sistema que diminua as despesas admiiiistrativas, consideradas como demasiadas.
Em sintese, o novo piano admite um e outro aspecto.
Depende o importante assunto, para sua concretizaqao, principalmente do pronunciamento do mercado segurador. a cujo arbitrio o IRB subordinou o piano traqado.
Apos a regulamentaqao do art. 16 da T.S.I.B., a questao da tarifaqao dos trapiches ficou dependendo do pronunciamento dos orgacs de classe das seguradoras. a fim de possibilitar aos outros orgaos tecnicos o estiido final do assunto.
Presentemente, ja recebido aqueie subsidio. a regulamentaqao do assunto esta sendo cpreciada pela Comissao Permancnte de Incendio e Lucros Cessantes.
Face as inodificaqoes introduzidas recentemente no art. 6' da T.S.I.B,, a D.I.Lc. esta cstudando a melhor forma de adaptar ao resseguro a classe de localizaqao ditada pela Tarifa.
Circulavcs
Circular 1-08-56, de ]2 de outubro de 1956 — Comunicando as socieda des. ter 0 Conselho Tecnico do I.R.B., em sessao de 28-9-56, resolvido que, excepcionalmente, para fins de resse guro. OS riscos situados na cidade de Paranagua e ocupados por atividades enquadraveis na Rubrica 103-Cafe da T.S.I.B. sejam classificado's com a classe 3 de Localizaqao e dando outras informaqoes.
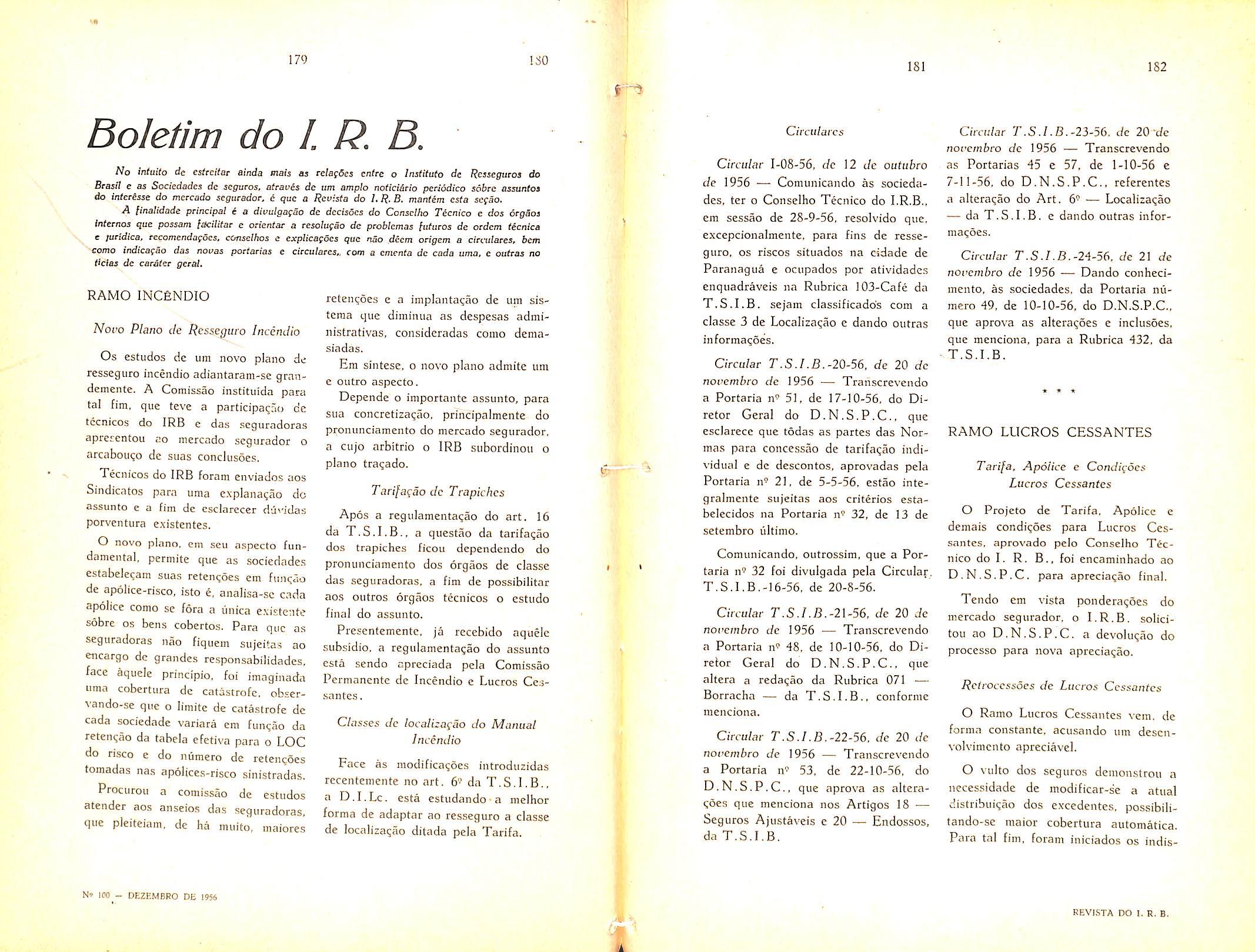
Circular T.S.1.B.-20-56, de 20 dc nouemhro dc 1956 — Transcrevendo a Portaria 51, de 17-10-56, do Diretor Geral do D.N.S.P.C., que esclarece que todas as partes das Normas para coiicessao de tarifaqao indi vidual e dc descontos, aprovadas pela Portaria n" 21, dc 5-5-56. estao integraimeiite sujeitas aos criterios estabelecidos na Portaria n' 32, de 13 de setembro ultimo.
Comunicando, outrossim, que a Por taria n' 32 foi divulgada pela Circular, T.S.I.B.-16-56, de 20-8-56.
Circular T.S./.iS.-21-56, dc 20 de noi'cinbro de 1956 — Transcrevendo a Portaria n^ 48, de 10-10-56. do Diretor Geral do D.N.S.P.C., que altera a redaqao da Rubrica 071 Borracha — da T.S.I.B., conforme nienciona.
Circular T.S.1.B.-22-56. de 20 de nouembro de 1956 — Transcrevendo a Portaria n' 53, dc 22-10-56, do D.N.S.P.C,, que aprova as alteraqdes que menciona nos Artigos 18 Seguros Ajustaveis e 20 — Endossos, da T.S.I.B,
Circular T.S.1.B.-25-56. de 20 "de novernbro de 1956 — Transcrevendo as Portarias 45 e 57, de 1-10-56 c 7-11-56, do D.N.S.P.C., referentes a alteraqao do Art. 6'' — Localizaqao — da T.S.I.B. c dando outras infor maqoes.
Circular T.S./.B.-24-56. de 21 de novernbro dc 1956 — Dando conhecimento, as sociedades, da Portaria nu mero 49, de 10-10-56. do D.N.S.P.C., que aprova as alteraqoes e inclusoes, que menciona, para a Rubrica 432, da T.S.I.B.
RAMO LUCROS CESSANTES
Tarifa. Apolice e Condiqocs
Lucros Ccssantes
O Projeto de Tarifa, Apolice e demais condiqoes para Lucros Cessantes, aprovado pclo Conselho Tec nico do I. R. B.. foi encaminhado ao D.N.S.P.C. para apreciaqao final.
Tendo em vista ponderaqoes do mercado segurador, o I.R.B. solicitou ao D.N.S.P.C. a devoluqao do process© para nova apreciaqao.
Rctrocessoes de Lucros Ccssantes
O Ramo Lucros Cessantes vem. de forma constante. acusando urn descnvolvimcnto apreciavel.
O vulto dos seguros demonstrou a necessidade de modificar-se a atual distribuiqao dos excedentes, possibilitando-sc maior cobertura automatica. Para tal fim, foram iniciados os indis-
pensaveis estudos. Deiitro cm breve serao oferecidaa ao mercado as conclusoes do I.R.B. sobre o assunto.
Circulaccs
Carta circular 1 ,877. de 23 c/e outubro de 1956 — Comiinicando as sbciedades que, podendo o risco de Explosao apresentar, na maioria dos sinistros. conseqiiencias desastrosas para a cobertura de Lucres Cessantes e prejiiizos reduzidos para a cobertura concedida pelo ramo incendio, deveri a inclusao desse risco nas apolices de Lucres Cessantes subordinar-se a aprova^ao dos orgaos de ciasse das seguradoras e deste Institute, quer no que diz rcspeito ao tipo de cobertura, quer no tocante a taxa a aplicar.
Circular I.Tp. 9-56, de 9 de outu bro de 1956 — Alteracao do anexo nS' 15 das /, Tp. — Embarca^.6es suieitas a agrauamento de taxas — Tendo em vista a estatistica de sinistros transportes e os resuitados das vistorias cascos no bienio 1954-1955, canceia e substitiii o anexo n^ 15 das Instnigoes Transportes (I.Tp.).
tinado a autorizagao para liquidagao de sinistros no ramo Transportes.
RAMO ACIDENTES PESSOAIS-
Carteira Transportes
Circulares
Circular N. Tp. 02-56. de 8 de nocembro de 1956 - Alleracao da clansufalV: dasN.Tp. - Revogando o disposto na circular N.Tp. 1-56 de 6' de agosto de 1956, niodifica a clausula 21' das Normas Transportes c estabelece uma. comissao adicional de 3% sobre OS pretnios relativos as cessoes complementares e incendio em armazens. Essa comissao sera distribuida no fiiD do exercicio entre as sociedades cedentes e aplicar-se-a ao movimento de todo o exercicio em curso.
Torna-se necessiirio rcssaltar que, sendo a finalidade do adicional cstabelerido intercssar os armadores na melhoria das condigoes de suas embarcagoes, nao poderia ter essa resolugao urn carater inflexivel. Com o cumprimento das exigencias feitas com base nas vistorias cascos, a taxa ora fixada sera, de imediato, revogada, Foram, outrossim, tomadas providencias para que, periodicamente, sejam efetuadas revisoes das cmbarcagoes sujeitas ao agravamento de taxas, com base em estatistica de sinistrostransportes e vistorias cascos.
O inicio de vigencia dos adicionais foi fixado em 1'' de noveinbro, conforine carta-circular n'? 1 .768, de 9 de outubro de 1956, tendo sido, para algumas das embarcagoes reiacionadas na circular, adiado para 1' de dezembro, face aos compromissos assumidos pelos armadores no sentido de que estariam di.spo.stos a cumprir as exi gencias feitas pelos peritoslvistoriadores indicados pelo I.R.B.
Circular I.Tp. 10-56, de 17 de ou tubro de 1956 — Alteragao dos itens
403.3 e 403.7 das Instru(;des Trans portes — Modificando o anexo n« 30 das I.Tp. (P.L.S.T.) e aprovando urn novo formulario (A.L.S.T.) des-
Ficou, tambem, estabelecido que, nos casos de cosseguro, a autorizagao para pagamento da indenizagao total sera concedida a lider, recebendo a mesma. para distribuir as cosseguradoras, as c6pias do A.L.S.T. que Ik? serao enviadas pelo I.R.B. juntamente com o formulario original.
Circular I.Tp. 11-56, de 24 de outubro dc 1956 — A/teragao do item 18.3 da Tarifa para os Scguros de Transportes Terrestrcs de Mcrcadorias (T.T.) — Comunicando as segura doras que o Diario Oficial dc 9 dc outubro de 1956 publica a Portaria n' 47 do D.N.S.P.C. que aprovou a substituigao do item 18.3 da T, T,
Seguro coletiro de passageiros de onibus. micro-onihus c .autonjoreis ern geral
Ja se encontra tcrminado o projeto de regulamentagao dessc tipo de se guro, o qua! sera submetido a decisao dos orgaos superiores do I.R.B.
Seguro de acidentes de trafego Prosscgucm os estudos concernentes a i^egulamentagao das condigoes de operagoes deste seguro.
Piano de estatistica de riscos c sinistros
Continuam os estudos para elaboragao dc um piano de estatistica do ramo Acidentes Pessoais.
Circular C 02-56, de 17 de outubro de 1956 — Alteragao do item 208 das /nsfriicdes Ca.scos — Modificando o anexo n" 8 das I. C. (P.L.S.C.) e aprovando um novo formulario (A.L.S.C.) destinado a autorizagao para a liquidagao dos sinistros no Ra mo Cascos.

Ficou tambem estabelecido que, nos casos de cosseguro, a autorizagiio para pagamento da indenizagao total sera concedida a lider, recebendo a mesma, para distribuir as cosseguradoras. as copias do A.L.S.T. que Ihe serao enviadas pelo I.R.B. juntamente com o formulario original.
Tan'/afao Individual
A fim dc atender ao disposto no item 1.2.4 do artigo 3'' da Tarifa de Seguros Acidentes Pessoais do Brasil. foram elaboradas as "Instrugoes para a concessao da tarifagao individual" e .sens estudos se encontram em fase final.
Seguro coletivo de turismo. excursionistas e veranistas
Processani-se ainda os estudos relafivo.s a estc tipo de seguro.
Seguro coletii'o dc empregados que tenham de viajar a servico do estipulante
Concluindo os estudos que vinham sendo procedidos, o projeto de nova regulamenta^ao deste tipo de seguro sera subnietido a decisao dos orgaos superiores do I.R.B.
Normas e Instrugoes para Cessos e Retrocessoes Acidentes Pcssonis
Esta sendo feita a atiializa(;5o das Normas e Instrugoes para Gessoes c Retrocessoes Acidentes Pessoais.
Circulares
Circular AP-25-56, de 16 de outvbro de 1956 — Seguros A. Pessoais conjugados com A. do Trahalho Remetendo as sociedadcs, em ancxo, OS reajustamentos as Circulares AP1-52 e 2-53. respectivamente de 24 de outubro de 1952 e 30-4-53, aprovados pelo Conselho Tecnico do I.R.B, em 12-10-56, a fim de poder atciider a altera?6es na Lei de Acidentes do Trabalho e rcsultantes da Lei n'^ 2 873 de 18-10-56.
Esclarecendo, outro.ssim, sobie a cbbertiira de ressegiiro de excedentes e catastrofe. a ser dada pelo I.R.B., para os novos limites estabelecidos pela Circular, conforme redaqao que menciona, Circular AP-26-56. ck 8 de novembro de 1956 — Risco de Ai^iafSo
— Art. y-^daT.S.A.P.B. — Dando
conhecimenlo das medidas de emergencia, aprovadas pelo Conselho Tec nico do I.R.B. em 26-10-56, relativas a cobertura do risco de avia^ao nas apolices Acidentes Pessoais, tendo em vista a recente Lei n" 2,866, de 13 de setembro de 1956. que deu nova rcda?ao ao Art, 114 do Cbdigo Brasileiro do Ar, em vigor a partir de novembro de 1956,
Circular AP-27-56, de 19 dc no vembro de 1956 — Comimicando as sociedades, em aditamento aos dizcrcs da Circular AP-I2-56, de 21-5-56, que as Condigoes para o Seguro Coletivo A, -Pessoais de As.sinantes e Anunciantes de Jornais, Revistas c Congeneres", constantes da mesma, mereceram aprovagao do D.N.S.P.C., conforme os termos da Portaria 55, de 5-11-56.
^ A
sobre o "Projeto dc Regulamentagao dos Seguros dc Vida em Grupo", o qual foi submetido a decisao dos orgaos superiores, A referida Comissao prossegue sens estudos relatives ao projeto de "resseguros provenientes dos se guros de Vida em grupo".
Circulares
Circular V-07-56, de 12 dc outubro de 1956 — Dando conhecimento as sociedades de diversas alteracoes, aprovadas pelo Conselho Tecnico em 28-9-56, nas I.C.V,, conforme rcdngao que menciona em anexo.
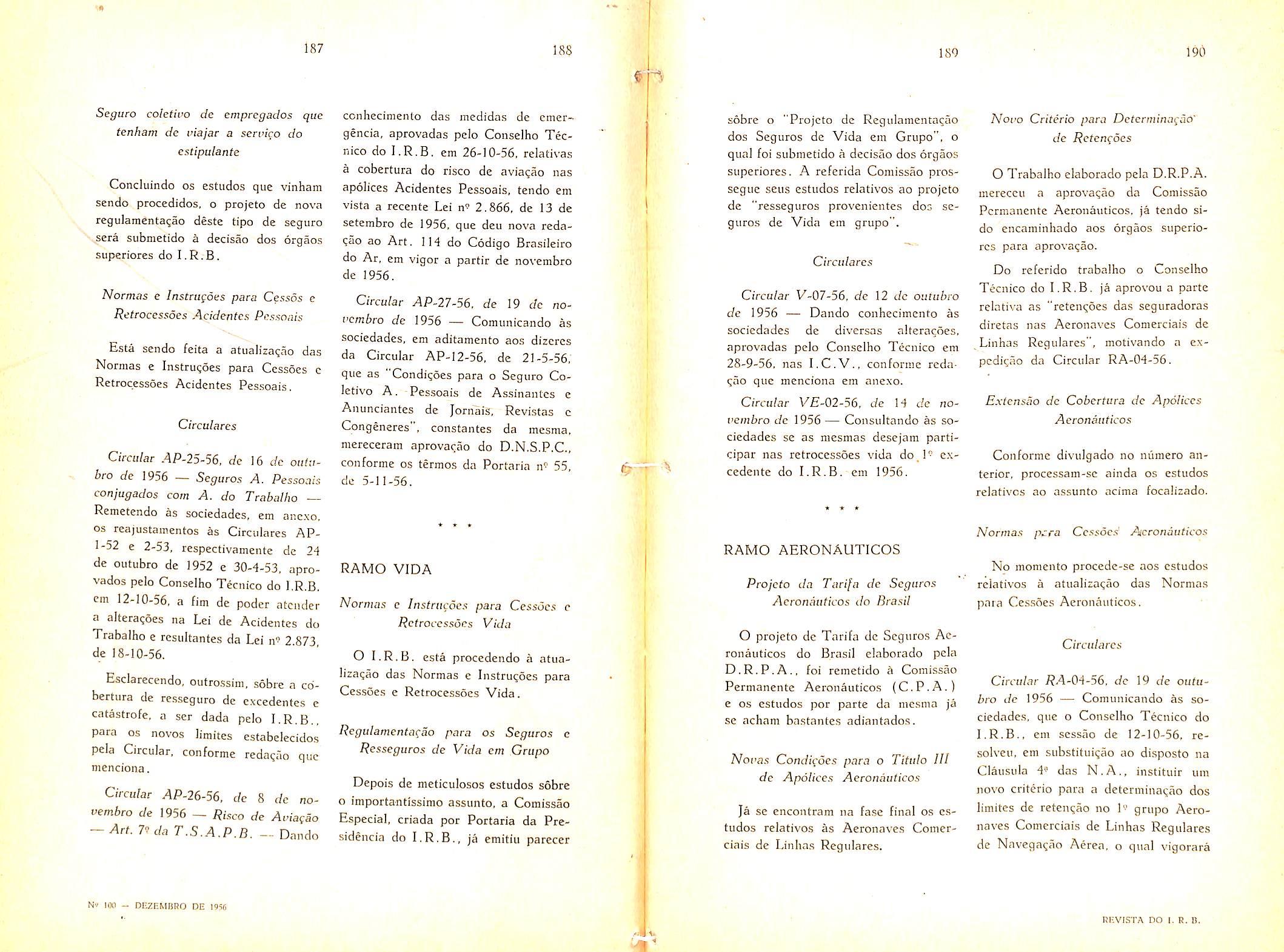
Circular VE-02-56, de 14 de no vembro dc 1956 — Consiiltando as so ciedades se as mesmas desejam participar nas retrocessoes vida do.l" c.\cedente do I.R.B. em 1956, RAMO AERONAUTICOS
Novo Criteria para Dcterminai;do' de Rctencoes
O Trabalho elaborado pela D.R.P.A. mereccu a aprovagao da Comissao Permanente Aeronauticos, ja tendo sido encaminhado aos orgaos superio res para aprovagao.
Do rcferido trabalho o Conselho Tecnico do I.R.B. ja aprovou a parte relativa as "retengoes das seguradoras diretas nas Aeronaves Comerciais de Linhas Regulares", motivando a expcdigao da Circular RA-04-56,
Exlensao dc Cobertura de Apolices Aeronauticos
Conforme divulgado no numero an terior, proeessam-sc ainda os estudos relatives ao assunto acima focalizado,
Normas pcra Cessoes Acronauticos
RAMO VIDA
Normas e Instrucoes para Cessoes c Retrocessoes Vida
O I.R.B, esta procedendo a atualizagao das Normas e Instrugoes para Cessoes e Retrocessoes Vida.
Regulamentacao para os Seguros c Resseguros de Vida em Grupo
Depois de meticulosos estudos sobre o importantissimo assunto, a Comissao Especial, criada por Portaria da Presidencia do I.R.B., ja emitiu parecer
Projeto da Tarifa dc Seguros
Acronauticos </o Brasil
O projeto dc Tarifa dc Seguros Ac ronauticos do Brasil elaborado pcla
D.R.P.A,, foi remetido a Comissao Permanente Acronauticos (C,P,A.) e OS estudos por parte da mcsma ja se acham bnstantes adiantado.s.
Novas Condkoes para o Titulo III de Apolices Acronauticos
Ja se encontram na fasc final os es tudos relativos as Aeronaves Comerciais de Linhas Regulares.
No moniento procedc-se aos estudos relativos a atualizagao das Normas para Cessoes Aeronauticos, Circulares
Circular i?A-04-56, de 19 de outu bro dc 1956 — Comimicando as so ciedades, que o Conselho Tbcnico do I.R.B,, em scssao de 12-10-56, rcsolveii, em substituigao ao disposto na Clausiila 4»' das N.A,, instituir um novo criterio para a determinagao dos limites de retengao no P' grupo Aero naves Comerciais de Linhas Regulares de Nnvegagao Aerea, o qual vigorara
a partir de 1' de janeiro de 1957, devendo sofrer sua primeira revisao em 1-7-57, conforme reda<;ao cjiie menciona.
Circulares
Circular Ag-Q3-56, de 16 de outubro de 1956 — Comunicando as Companhias os esquemas de ressegiiro acima mencionados. bem como a distribui^ao das responsabilidades resseguradas. entre o I.R.B. e as retrocessionarias.
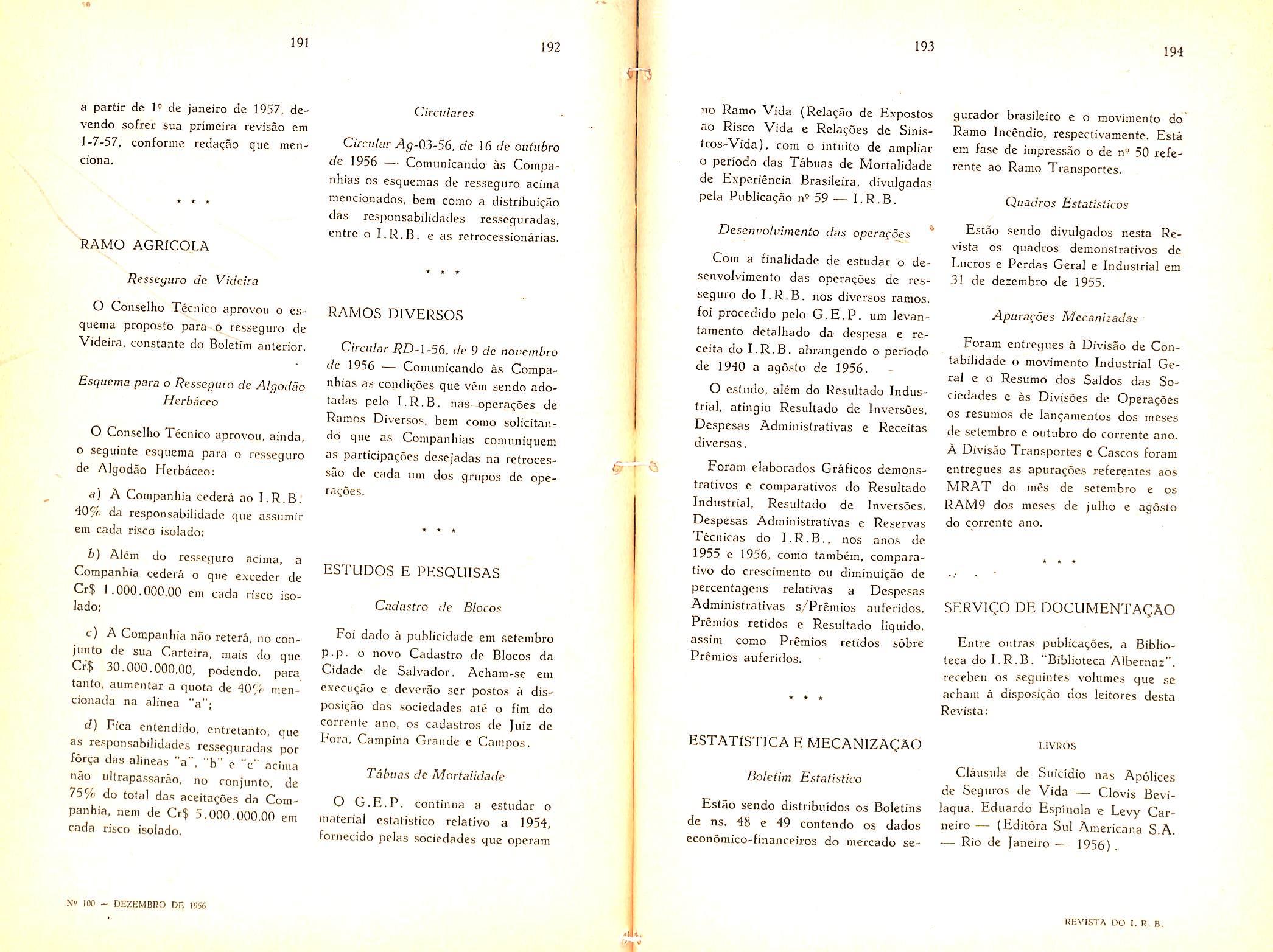
RAMO AGRICOLA
O Conselho Tecnico aprovou o esquema proposto para o resseguro de Videira, constante do Boietim anterior,
Esquema para o Resseguro de Algoda^ Herbaceo ao
O Conselho Tecnico aprovou, ainda, 0 seguinte esquema para o resseguro de Algodao Herbaceo:
a) A Companhia ccdera ao I.R.B, 40% da responsabiiidade que assiimir em cada risco isolado;
b) Alem do resseguro acima. a Companhia cedera o que exccder de Cr$ 1.000.000,00 em cada risco iso lado;
c) A Companhia nao retera, no conjunto de sua Carteira, mais do que Cr$ 30.000.000,00. podendo, para tanto, aumentar a quota de 40%. nien-' cionada na alinea "a";
d) Pica entendido, entretanto, que as responsabilidades resseguradas por forqa das alineas "b" e "c" acima nao^ ultrapassarao, no conjunto. de 75% do total das aceitates da Com panhia, nem de Cr$ 5.000.000,00 em cada risco isolado.
RAMOS DIVERSOS
Circular RD-l-56. de 9 de novembro de 1956 — Comunicando as Companhias as condigoes que vem sendo adotadas pelo I.R,B. nas operagoes de Ramos Diversos. bem como solicitando que as Companhias comiiniquem as participates descjadas na retrocessao de cada urn dos grupos de operaqoes.
Cadastro de Blocos
Foi dado a publicidadc em setembro p.p. o novo Cadastro de Blocos da Cidade de Salvador. Achain-se em cxecu^ao e deverao ser postos a disposiciio das .sociedades ate o fim do corrente ano, os cadasfros de Juiz de Pora. Campina Grande e Campos.
Tabiias de Morfalidade
O G.E.P. continua a estudar o material estatistico relative a 1954, fornecido pelas sociedades que operam
no Ramo Vida (Relato de Expostos ao Risco Vida e Rela^oes de Sinistros-Vida). com o intuito de ampliar o periodo das Tabuas de Mortalidade de Experiencia Brasileira, divulgadas pela Publicagao n' 59 — I.R.B.
Desenvotvimento das operagoes
Com a finalidade de estudar o descnvolvimento das operagoes de res seguro do I.R.B. nos diversos ramos. foi procedido pelo G.E.P. urn Jevantaraento detalhado da despesa e receita do I.R.B. abrangendo o periodo de 1940 a ago.sto de 1956.
O estudo. alem do Rcsultado Indus trial, atingiu Resultado de Inversoes, Despesas Administrativas e Receitas divcrsas.
Foram elaborados Graficos demonstrativos e comparatives do Resultado Industrial, Resultado de Inversoes. Despesas Administrativas e Reservas Tecnicas do I.R.B., nos anos de 1955 e 1956, como tambem, comparativo do crcscimento ou diminuiqao de percentagens relativas a Despesas Administrativas s/Premios auferidos, Premios retidos e Resultado liquido. assim como Premios retidos sobre Premios auferidos.
Boietim Estatistico
Estao sendo distribuidos os Boletins de ns. 48 e 49 contendo os dados economico-financeiros do mercado se-
gurador brasileiro e o movimento do Ramo Incendio, respectivamente. Esta em fase de impressao o de n' 50 referente ao Ramo Transportes.
Quadros Esfafisficos
Estao sendo divulgados ncsta Revista OS quadros demonstrativos de Lucres e Perdas Geral e Industrial cm 31 de dezembro de 1955.
Apuracoes Mecanizadas
Foram entregues a Divisao de Contabilidade o movimento Industrial Ge ral e o Resumo dos Saldos das So ciedades e as Divisoes de Operagoes OS resumes de langamentos dos meses de setembro e outubro do corrente ano. A Divisao Transportes e Cascos foram entregues as apuragoes referentes aos MRAT do mes de setembro e os RAM9 dos meses de julho e agosto do corrente ano.
Entre outra.s publicagoes, a Biblioteca do I.R.B. "Biblioteca Albernaz". recebeu os seguintes volumes que se acham a disposigao dos leitores desta Revista:
l.iVRO.S
Clausula de Suicidio nas Apolices de Seguros de Vida — Clovis Bevilaqua, Eduardo Espinola e Levy Carneiro — (Editora Sul Americana S.A, — Rio de Janeiro — 1956)
Causes of Death in Filand for the Year 1954 — tables (Finland Official Statistics of Finland — Hel sinki — 1956).
1950 Population Census — Popula tion, Number, age and Language Vol. I Finland — Office Statistics of Finland — Helsinki — 1956).
Anuario de Seguros — 1956 — Revista de Seguros (Rio de Janeiro 1956).
Book of the Year — 1955 Encyclopaedia Britanica, Inc. (Rio de Janeiro — 1955)
Book of the Year — 1956 Encyclopaedia Britania. Inc. (Rio de Janeiro — 1956).
Reflexions sur la Reassurance des Risques de Grde-Roger Collon (Imp. Typolux — Paris — 1955).
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e findice Alfabetico da Nomen clatura Brasileira de Mercadorias Ministerio da Fazenda (I.B.G.E. Rio de Janeiro — 1953).
Colegao das Leis do Brasil — juIho/setcmbro de 1956 — Atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo (Imprensa Nacional — Rio de Janeiro — 1956).
Consolidagao das Leis do Trabalho. Interpretada — Afonso Caldas Brandao (Editora A. Coelho Branco ■— Rio de Janeiro — 1956) .
Contabilidade Superior (Teoria Economica da Contabilidade) — Frederico Hermann Jr. (Editora Atlas S. A. — Sao Paulo — 1954)
Organizai;ao e Contabilidade de Custos — A. Lopes de Sa (Editora Atlas S. A. — Sao Paulo).
Aspectos Cientificos da Contabili dade — Rogerio Pfaltzgraff (Livraria Tupa — Rio de Janeiro)
Selegoes de Contabilidade — Ro gerio Pfaltzgraff (Livraria Tupa Rio de Janeiro) .
Comentarios a Constitui^ao'de 1946 (Arts. 1/218) — 5 vols. •— Pontes de Miranda (Max Leimonard 1953).
Les entreprises d'assurance privees en Suisse — 1953 —..Bureau Federal dcs Assurances (B.F.A. Berne 1955).
5.6'' Aniversario da Cia. de Segu ros "A Nacional" — 1906/1956 (Lisbon — 1956) .
The Economic Theory of Risk and Insurance — Allan H. Villett (Uni versity of Pensylvania Press — Phi ladelphia — 1951).
Miscellaneous Accident Insurance
— J. B. Welson (Sir Isaac Ptraan & Sons Ltd. — London ■— 1949)
L'Assurance contre I'lncendie •— sa techinqiie; sa pratique — Michel Gautier (L'Observateur — Paris 1954).
Tabuas e Formulas para Estatistica aplicadas a Agronomia — F. G. Brieger (Cia. Melhoramentos — Sao Paulo)
Metodos de Estatistica — su aplicacion a experimentos en Agricultura
y Biologia — George W. Snedecor (A. C. M. E. Agency Soc. Res. Ltda.
— Buenos Aires — .1948)
Analisis Estadistico — aplicado a los trabajos de investigacidn en Agri cultura y Biologia — Sisto E. Trucco (Librerie y Editora "El Ateneo"
Buenos Aires, 1956)
Insurance, a Practical Guide
S. B. Ackerman (The Ronald Press Co. — New York — 1951).
The Body Fluids — J. Ruessel
Elkinton e T. S. Danonesky (The Williams <& Wilkins Co. — Baltimore
— 1955).
Calendario Agrlcola do Brasil ■—
Minas Gerais — Servi^o de Informa^ao Agricola — M. da Agricultura (Rio de Janeiro — 1955) .
Dicionario das Plantas Xlteis do Brasil e das Ex6ticas Cultivadas.
Vol. 3 — letras F a G ■— M. Pio Correa (Serviqo de Informaqoes Agricolas — M. F. Rio de Janeiro — 1952).
Estadistica de los Negocios de Se guros — 1955 — Republica Dominicana.
Comercio Exterior 1953-1954 — Re publica de Cuba (Ministerio de Ha cienda — La Habana —• 1956).
Estatisticas —• 1955 — Distrito Fe deral (Departamento de Gcografia e Estatistica — Prefeitura do Distrito Federal — Rio de Janeiro — 1956).
PERIODICOS Nacionais
Arquivos Brasileiros de Psicotecnica
— Ano 8, ns. 1 e 2 — 1956. Atualidades da "Sao Paulo" — ns. 327-340
— julho-outubro — 1956. Boletim Estatistico do I.B.G.E. — ns. 54-55
— abril-setembro ■— 1956.
Boletim do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizaqao
■— ns 12-26 — agosto-novembro 1956.
O Economista — ns. 446-448 abril-Junho de 1956. Mensario Brasileiro de Contabilidade ns. 467-470 mar^o a junho de 1956.
Mensario Estatistico do I.B.G.E. ■— ns. 60-63 — junho-setembro de 1956.
Noliciario Salic — ns. 248-249 agosto-setembro de 1956 e Suplemento ns. 45/46.
Orientador Fiscal do Imposto de Consumo e Renda — ns. 134-137 agOstb-novembro de 1956.
Previdencia —• ns. 153-155 — juIho-setembro de 1956.
Revista Bancaria Brasileira — ns. 283-286 — julho-outubro de 1956.
Revista de Seguros (Rio) — ns. 421-423 — julho-setembro de 1956.
EsUangeiras Eslados Unidos
Econometrica (Journal of the Eco nometric Society) vol. 24 — no. 1 Janeiro de 1956.
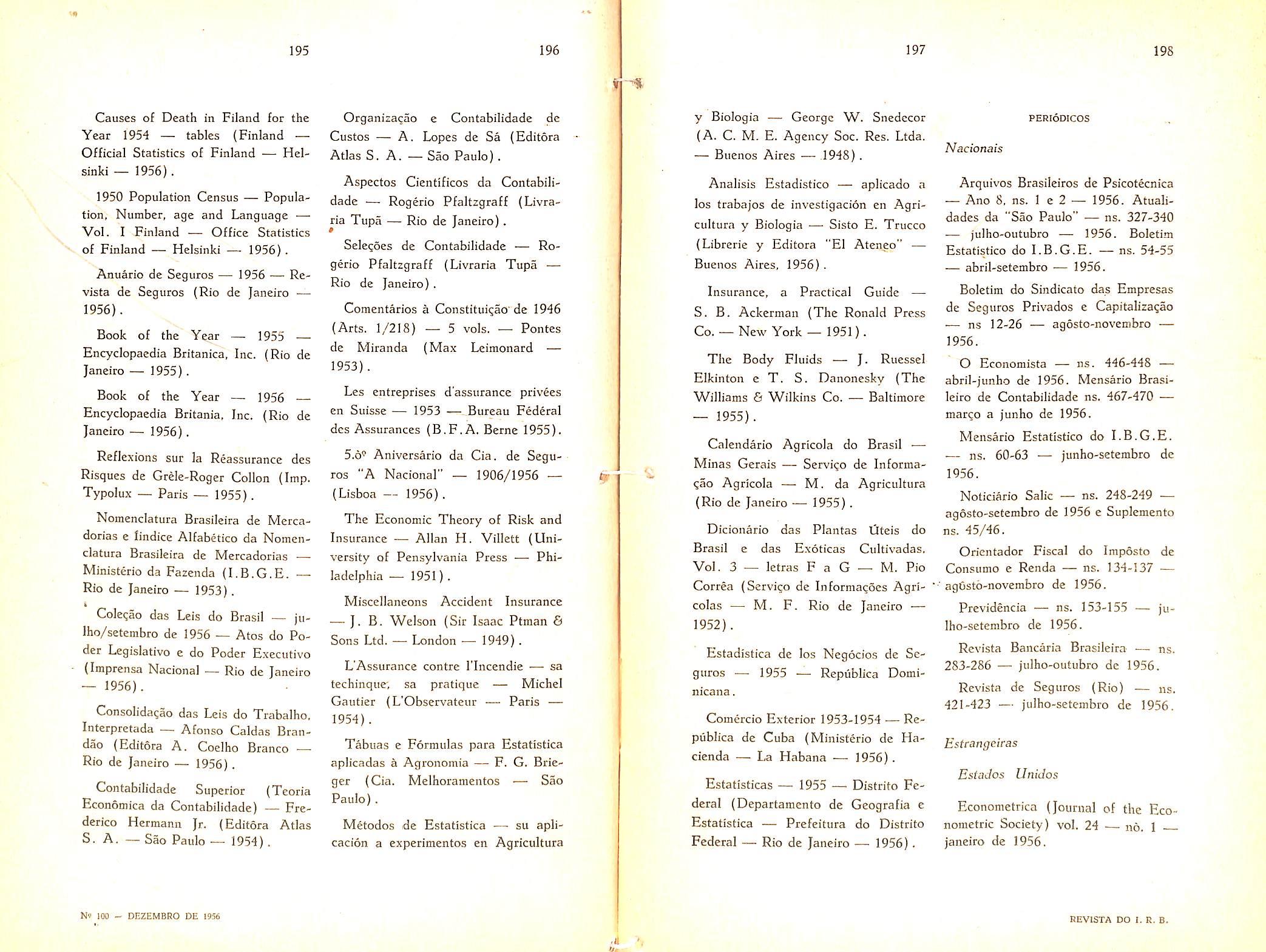
Fire News — ns. 455-458 — julhooutubro de 1956.
Hartford Agent — vol. 47, n.^- 12 e vol. 48, n.''' 3, 1956.
International Financial News Survey
— vol. 9, ns. 1-13 — julho-setembro de 1956.
International Fire Fighter — ns. 8-9 — agosto-setembro de 1956.
The National Geographic Magazine — vol CX-ns. 2-4 ■— agosto-outubro de 1956.
Franga
LAssureiir — Conceil — ns.265266 — julho-agosto de 1956.
Bulletin Administractif des Asstirances — n' 48, 1956.
Le Droit Maritime Fran<;ai.s — ns. 91-94 — julho a outubro de 1956.
Informationes Sociales vol. XVI n.s, 1-7 — 1956.
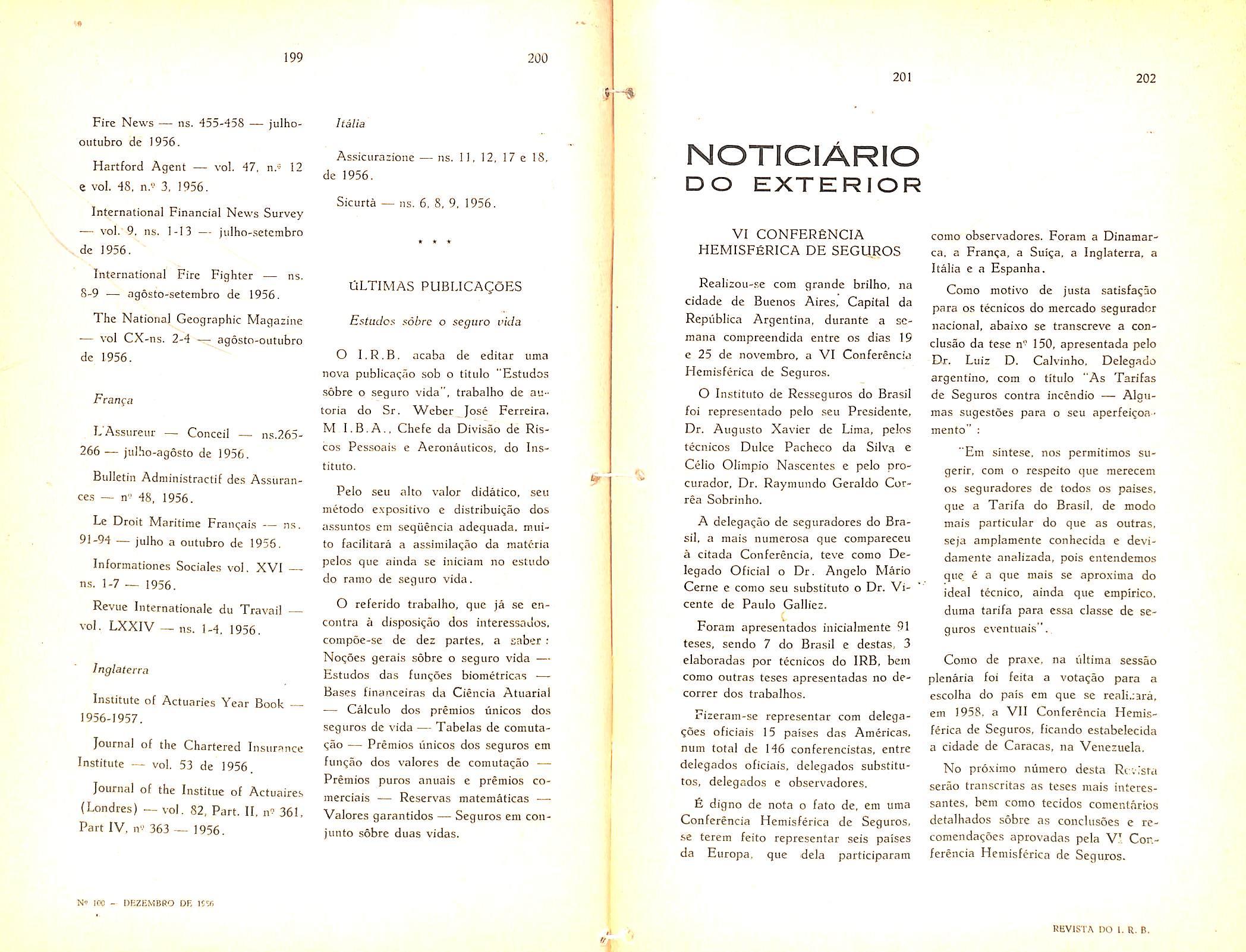
Revue Internationale du Travail vol. LXXIV — ns. 1-4, 1956,
Inglaterra
Institute of Actuaries Year Book 1956-1957.
Journal of the Chartered Insurance Institute ~ vol. 53 de 1956.
Journal of the Institue of Actuaires (Londres) - vol. 82, Part. II. n^ 361. Part IV, iv' 363 — 1956.
ItMia
Assicuraiionc — Jis. 11, 12, 17 e IS. de 1956.
Sicurta — ns. 6, 8, 9, 1956.
Estudos sobre o segitro vida
O I.R.B. acaba de editar uma nova publicai^ao sob o titulo "Estudos .sobre o seguro vida", trabalho de autoria do Sr. Weber Jose Ferreira, M I.B.A. Chefe da Divisao de Riscos Pessoais e Aeronauticos, do Instituto.
Pelo seu alto valor didatico. sen metodo expositivo e distribui^ao dos a.ssuntos em seqiiencia adequada, muito facilitara a assimilaqao da niatcria pelos que ainda se iniciam no estudo do ramo de seguro vida.
O referido trabalho, que ja se cncontra a disposi<;ao dos interessados, comp6e-se de dez partcs, a saber No^oes gerai.s sobre o seguro vida
Estudos das funqoes biometricas
Bases financeiras da Ciencia Atuarial
— Calculo dos premios unicos do.s seguros de vida — Tabelas de comuta^ao — Premios unicos dos seguros em funqao dos valores de comuta^ao
Premios puros anuais e premios coinerciais — Reserves matematicas
Valores garantidos — Seguros em con|unto sobre duas vidas.
Realizou-se com grande brilho, na cidade de Buenos Aires. Capital da Republica Argentina, durante a scmana coinpreendida entre os dias 19 c 25 de novembro, a VI Conferencia Hemisferica de Seguros.
O Institute de Resseguros do Brasil foi representado pelo seu Presidcnte, Dr. Augu.sto Xavier de Limn, pelos tecnicos Dulce Pacheco da Silva e Celio Oiimpio Nascentes e pelo procurador. Dr. Raymundo Geraldo Correa Sobrinho.
A delega^iio de seguradores do Bra sil, a mais numerosa que compareceu a citada Conferencia, teve como Delegado Oficial o Dr. Angelo Mario Cerne e como seu substituto o Dr. Vi cente de Paulo Galliez.
Foram apresentados inicialmente 91 teses, sendo 7 do Brasil e destas, 3 elaboradas por tecnicos do IRB, bcin como outras teses apresentadas no decorrer dos trabalhos.
Fizeram-sc representar com delega?6es oficiais 15 paises das Americas, num total de 146 conferencistas, entre delegados oficiais. delegados substitutos, delegados e observadores.
E digno de nota o fato de, em uma Conferencia Hemisferica de Seguros, se terem feito representar seis paises da Europa, que dela participaram
como observadores. Foram a Dinamarca. a Franqa, a Suiga, a Inglaterra, a Italia c a Espanha.
Como motivo de justa satisfagao para os tecnicos do mercado segurador nacional, abai.xo se transcreve a conclusao da tesc n'' 150, apresentada pelo Dr. Luiz D. Calvinho. Delegado argentino, com o titulo "As Tarifas de Seguros contra incendio — Algumas sugestoes para o seu aperfeigoamento"
"Em sintese. nos permitimos sugerir, com o rcspcito que merecem OS seguradores de todos os paises. que a Tarifa do Brasil, de modo mais particular do que as outras, seja ampiamente conhecida e devidamente analizada, pois entendemos que. e a que mais se aproxima do ideal tecnico, ainda que empirico, duma tarifa para essa classe de se guros eventiiais
Como de praxe. na ultima sessao plenaria foi feita a votagao para a cscoiha do pais em que se reali.;ara. em 1958, a VII Conferencia Hemis ferica de Seguros, ficando estabelecida a cidade de Caracas, na Venezuela.
No proximo niimero desta Rvvisra serao transcritas as teses mais interessantes, bem como tecidos comenthrios detalhados sobre as conclusoes e recomendagocs aprovadas pela V.I Con ferencia Hemisferica de Seguros.
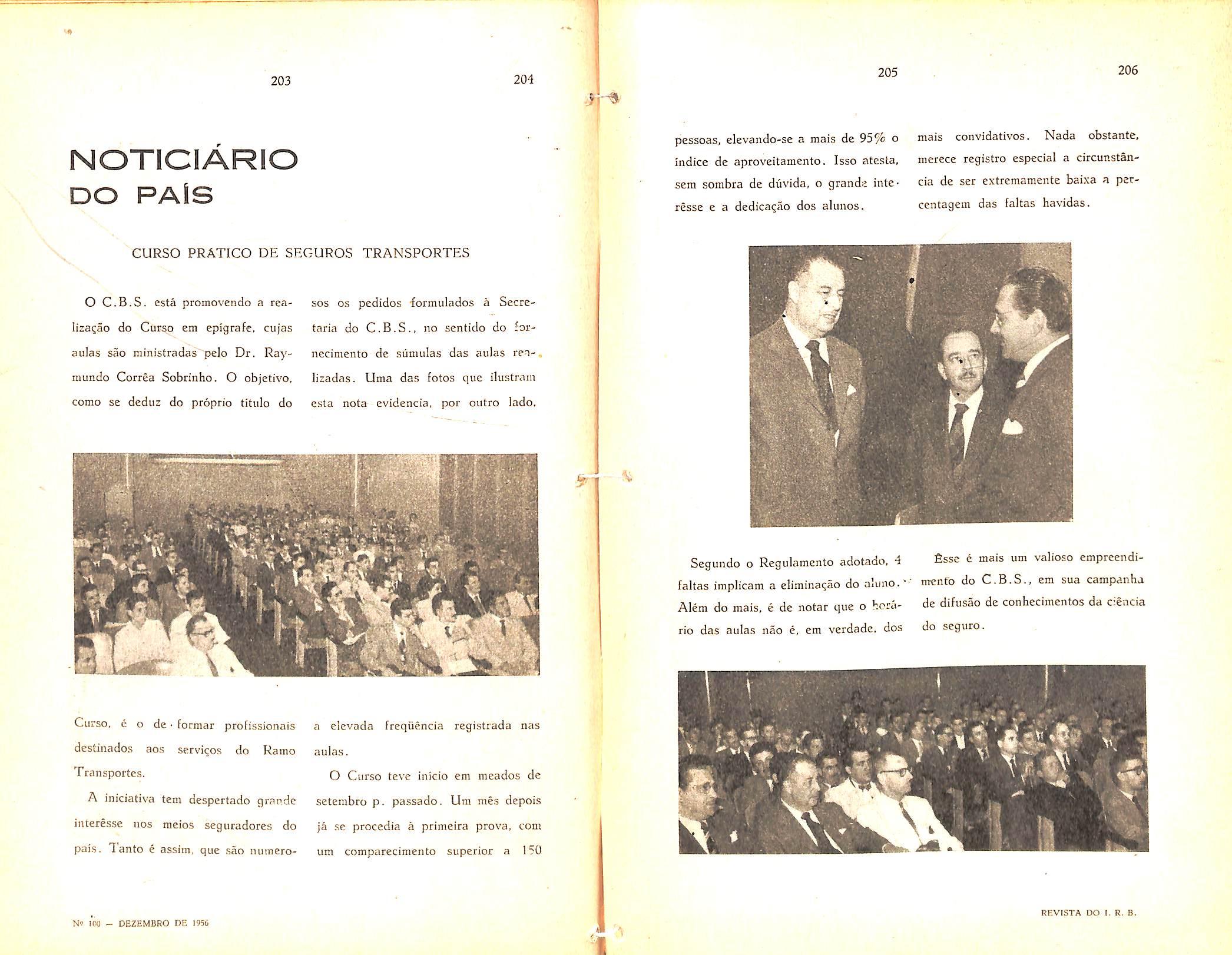
O C.B.S. esta promovendo a rea- sos os pcdidos -formulados a Secreliza^ao do Curse em epigrafe, cujas taria do C.B.S., no scntido do foraulas sao ministradas pelo Dr, Ray- necimento de sumiilas das aulas rea-. mundo Correa Sobrinho. O objetivo, lizadas. Lima das fotos que ilustram como se deduz do proprio titulo do esta nota cvidencia, por outro lado.
pessoas, elevando-se a mais de 95% o mais convidativos. Nada obstante. indice de aproveitamento. Isso atesta, merece registro especial a circunstansem sombra de diivida. o grande inte- cia de ser extremamente baixa a perresse e a dedica^ao dos alunos. ccntagem das faltas havidas.
Segundo o Regulamento adotado, 4 fisse e mais um valioso empreendifaltas implicam a eliminacao do almio.-' menfo do C.B.S., em sua campanha Alem do mais, e de notar que o hcra- de difusao de conhecimentos da ciencia rio das aulas nao e, em verdade, dos do seguro.
Curso, e o de • former profissionais a elevada freqiiencia registrada nas destinados aos services do Ramo aulas.
Transportes. O Curso teve iiiicio em meados de A iniciativa tern despertado grande setembro p. passado. Urn mes dcpois interesse nos meios seguradores do ja sc proccdia a primeira prova, com pais. lanto e assim, que sao numero- um comparecimento superior a 150
O Professor Dr. Raul Bittencourt, a convite do Dr. Augusto Xavier de Lima, Presidente do I.R.B., csta rainistrando um Curso. para os fimcio-
dominio da materia que leciona, sa6 caracteristicas marcantes das conferencias pronunciadas pelo Professor Bittencourt, emprestando as mesnia.s um cunho leve e agradavel que miiito concorre para a manutenijao de um elevado indice de frequencia.

IV — Relaqoes humanas na adoIcscencia.
V — Fornias de relagoes humana.s
— Conflito e processes de ajustamento social: mandar, obedecer e cooperar.
VI — Desvios de forma^-ao c rea?6es neuroticas.
VII — Higienc mental do traBaIho.
VIII — Eficicncia social e felicidadae individual.
A fotografia baixo demonstra, de maneira eloqiiente, o intcresse que essas conferencias vem desperiando.
narios dessa Casa, sobre Psicologia das Relagoes Humanas, atraves de uma serie de oito conferencias.
Superando as mais otimistas espectativas, as palestras do Professor Raul Bittencourt tem-se constituido em esplendorosas fontes de ensinaincnto para todos os que as tern assistido.
Fluencia verbal, esmero e elegandn da frase, acuidade espiritual e inteiro
0 programa a ser cumprido pelo eminente mestre e o seguinte :
1 — Introdu^ao — conceito de relagoes humanas — Personalidade e grupo social — forma^ao da perso nalidade.
II — Forma^ao e aprendizagem rela<;6es educacionais.
III — Rela^oes humanas na infancia.
Nos dias 26 e 21 de setembro ulti mo realizaram-se, no auditorio do Ins titute de Resseguros do Brasil, a." assembleias Geral c Tecnica do Ins titute Brasileiro de Atuaria.
Na primeira daquelas foi proinovida a eleigao para os orgaos administrati vos do I.B.A. que apresentou o se guinte resultado: Presidente — Gastfio Quartin Pinto de Moura; Colcfiio de Socios — Alfredo Carlos Pestana Junior, Gilbcrto Lyra da Silva, Herbert Josef Friedmann, Jesse Montello, Joa-
quim de Assiz e Souza, Maximo Cittadini, Oscar Edivaldo Porto Carreiro, Tullio Antonaz e Weber Jose Ferreira; Conselho Fiscal: Efetivos
I.A.P.I., Cia. Seguradora Brasileira e Sui-America T. M. A.: Suplentes
Minas Brasil, Cia. de Seguros e Boavista de Seguros de Vida.
Usando da faculdade qiie Ihe confercm os Estatutos do I.E.A., o novo Presidente escolheu para constituir a futura Diretoria, dentre os eleitos para o rcferido Colegio, os seguintes socios: Weber Jose Ferreira. Her bert J. Friedmann, Joaquim de Assiz e Souza, e Oscar Edivaldo Porto Car reiro, para os cargos de Diretores Sccretario, Tesoureiro, de Publicacoes c Tecnico, respectivamente.
Na Assembleia Tecnica foi debatido com muito brilhantismo pelos M.I.B.A. Joao Lyra Madeira e Edward Olifieis o trabalho apresentado pelo M.I.B.A. Gastao Quartin Pinto de Moura, sob o titulo "Relatorio sobre as Tabua.s de Mortalidade relativas ao qiiinqiienio 1949-1953".
Ainda do mesmo autor foi oferecida a aprecia^ao da Asscmbiei.a Tecnica a monografia, nao incliiida em pauta para debate, intitulada "Estiido da c!ura^ao da seleqao medica de riscos normais segundo a experiencin ]94':i-53".
Serao inauguradas no proximo dia 10 de dezembro as novas instala^ocs da Representaqao do I.R.B. em Sal vador, Bahia, no 8" pavimento do Edificio Delta, na Riia da Grecia, n'-' 6.
Tambem a Representa^ao do I.R.B. em Recife, Pernambuco, funcionara cm suas novas instalaqdes, a serem inau guradas no dia 13 do corrente, no 7"? andar do Edificio Conde da Boa Vista, na Avenida Guararapes, n- 120.
AINDA o seguro global de banco.s — J.A.M. Wiegcrirtck — n." 99. col. 45.
ALGUMAS notas sobre as pcrdas por incendio nos rcfinarias petrolifcras — Mario Trindadc — n' 100, col, 63.
AMPLIAQAO do conceito dc rcsseguro autoinatico dos riscos sdi-normais — Hamdcar dc Bacros — n." 98, col. 61.
No dia 19 de novembro findo, comemorou-se, no I. R.B., o dia da Bandeira, niima ccrimonia simples mas plena de sentimento civico.
Ao mcio dia, reuniu-se no terraqo do ediflcio-sede todo o funcionalismo, para o hasteamento do pavilhao na tional, o que foi feito per uma menina, filha de fimcionaria, sob calorosa salva de palmas de todos os prescntes.
Nesta ocasiao, usou da palavra c Dr. Jose Accioly de Sa, Vice-Presidente, no cxercicio da Presidencia do Institiito, que pronunciou brilhante ora^ao, alusiva a data.
Encerrando a solenidade. foi entcado o Hino National, em homenagem ao magno simbolo da Patria.
AP6L1CE ajustavel. A nova ... — Laiz Mendon^a — n." 97, col. 39.
ATIVIDADES do I.R.B., cm 1955 — n." 96. col. 29.
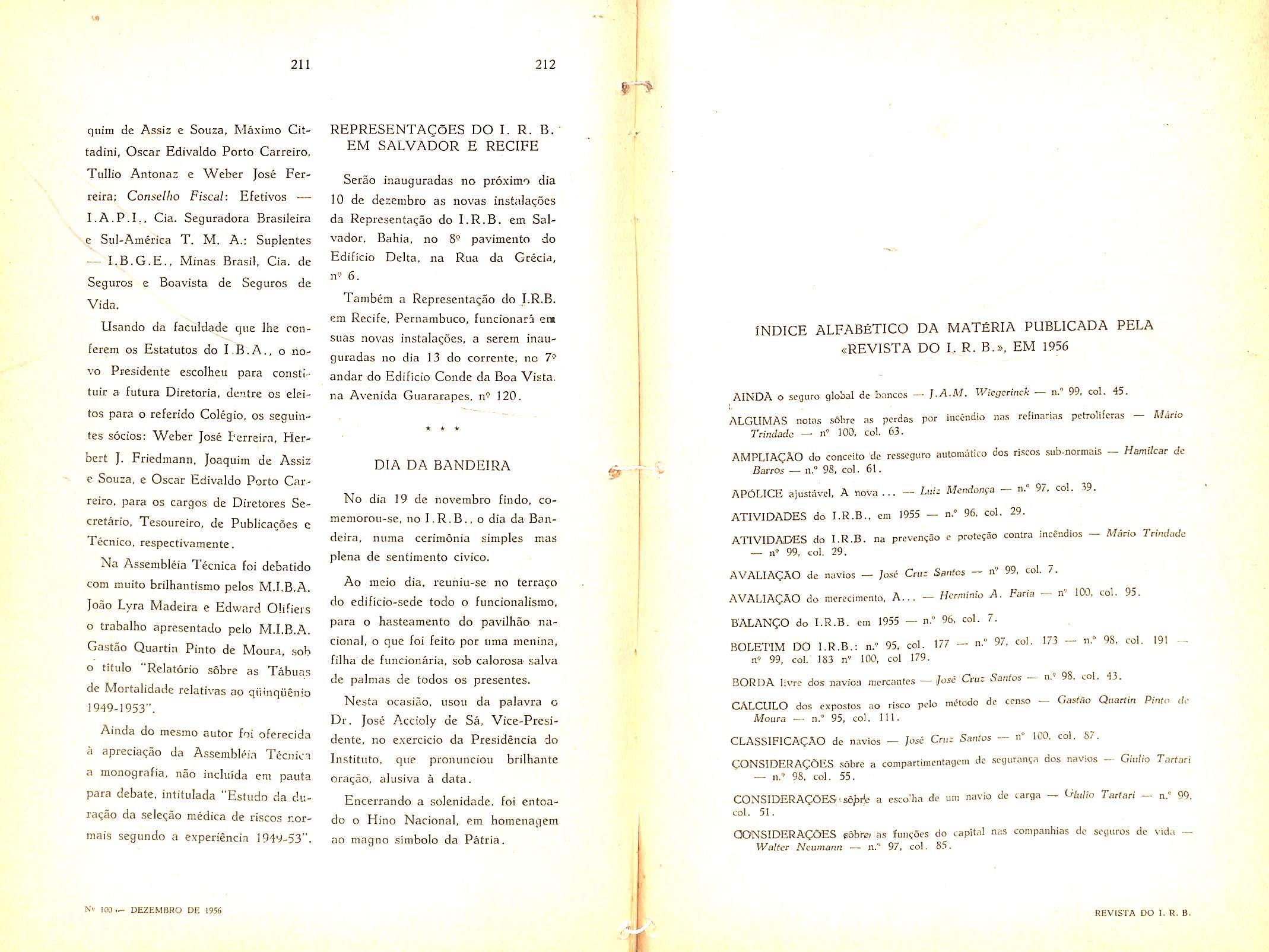
ATIVIDADES do I.R.B. na prcvengao e protegao contra incendios - Mario Trindadc — n" 99, col. 29.
AVALIACAO de navios — Jose Criir Santos — n' 99, col. 7.
AVALIACAO do merecimento. A... — Hcrminio A. Faria — n'' 100, col. 95.
B'ALANCO do I.R.B. em 1955 — n." 96, col. 7.
BOLETIM DO I.R.B.: n." 95. col. 177 — n.- 97, col. 173 — n." 98, col. 191 n« 99, col. 183 n" 100, col 179.
BORDA livre dos navios mcrcaiites — Jose Cruz Santos — n.' 98. col. 43.
CALCULO dos cxpostos ao risco pelo metodo de ccnso - Gastao Quartin Pinto dc Moara — n.° 95, col. III.
CLASSIFICAOAO de navios — Jose Cniz Santos — n" 100. col, 87.
CONSIDERACOES sobre a compartimentagem dc seguranga dos navios ~ Gi«/io Tartari — n.- 98, col. 55.
CGNSlDERACOES'sSjjrfe a esco'ha de urn navio de carga — Gl„Uo Tartari — n.° 99, col. 51.
OONSIDERACOES edbr^, as funcScs do capital nas companhias dc seguros dc vida Walter Neumann — n." 97, col- 85.
CONSIDERA(^ES sobrc tarifa oficial — Adyr Peccgo Messina n.' 97, col. 71.
CONSULTORIO Teaiico: n." 97, col. 167 — n," 98, col 185 — n '99 col 179 n." 100, col.
COOPERACAO — Herminio Augusta Far/a — n." 99, col. 59.
DADOS Estatisticos: Dcmonstra^ao de Lucres e Perdas das Socicdades dc Scguro.s n- J>, col. 157; Estimativa dos Prfimios e Sinistros de 1955 n.' 96, coL 187; Ativo llquido das socicdades de seguro era 1954 — n." 97. col. 119; Desp'esas Administrativas Gerais — n." 98. cel. 155; Balan?o das Socicdades de Scguros — n." 99. n° i(» 0?"°^ Socicdades dc Scguros era 1955 -
DIREITO do seguro terrestre — David CarapiVa Filho — n." 99, col. 15.
®
ELEigOES para os Coiiselho^ Tccnico c Fiscal ,do I.R.B. — n.' 95, col. 185.
'■""■a-"' - Sauerbicr - n' 99, col. 67. - 100, ESTRUTURA da populaqao sob o aspccto da idadc - Antcnio LashcrasSanz - n." 97,
'*•1 autoraStica no rarao Inccndio - Ce/io Olimpio Nascsntcsn 90, col. 9 — n' 99, col. 33 — n^' 100. col. 35.
d' per apolicc e por capital segurados oasfflo Uuarfin Pmfo dc Maura — n' 100. col. 45.
IMPOSTO adjcional sobre o lucro das pessoas jurid.cas, O. — pcnato Rod,a Lima
I-R.B. Atividades em 1955 — n." 96. col. 29.
9^'"'cor'^''29'''' protegao contra incendios _ Maria Trindadc —
I.R.B.: Balan^o cm 1955 — n." 96. col. 7.
I.R.B.; EleigSes para os Conselhos Tecnico e Fi.scal - 95, col. 185.
I.R.B. Rclntorio sudnto das suas atividades, no quinqQenio 1951/1955 ~ n- 95, col. 3.
J.R.B'. no.s relatbrios das socicdades — n.» 97, col. 189.
C O de nscos c prevengao contra inccndio — Fredcrico Rossncr — n." 98. col. 67.
LIMITES de retengao no Ramo Aeronauticos — Adyr Messina ~ ii' 100, col. 27.
NORMAS Cascos. As Novas. Pada Mota Lima Sobrinho — n." 95. col. 145.
NOTICIARIO do Exterior; n' 98, col. 211 - n'' U)0. col. 201. S '« - »■- »'■ "5 - 98,
NOVA apolices njustavel - I.dz Mcndonga - n.' 97. col. 39.
NOVAS Normns Cascos - Paulo Mota Lima Sobrinho - n.° 95, col. 145.
PADRAO minimo para o calculo da.s rcservas matematicas das companhias de scguros dc vida — Eduacdo Olificrs — n." 97. col. 43.
PARECERES e Dedsocs: n." 97, col. 153 — n." 98. col. 177.
PLANOS de seguro agricola — Vanor Moura Ncvcs — n' 100. col. 79.
POLITICA penal do seguro — Ltiiz Mcndon^a — n.' 99, col. 3.
PRIMEIRO excrcicio da.s opcra;ocs dc seguro ngricola — 0//ion Bacna — n." 98, col. 51.
PROBLEMA da redu?ao de preialos no .seguro inccndio — Hugo Kadow — n^ 100, col. 69.
REFLEXOES sobre o rcsscguro dos nscos de granizo — Roger Cdlon. n." 97. col. 57 — 11." 98, col. 73.
RELATORIO sucinto das ntividadc.s do I.R.B., no quinquenio 1951-1955 — n.' 95. col. 3.
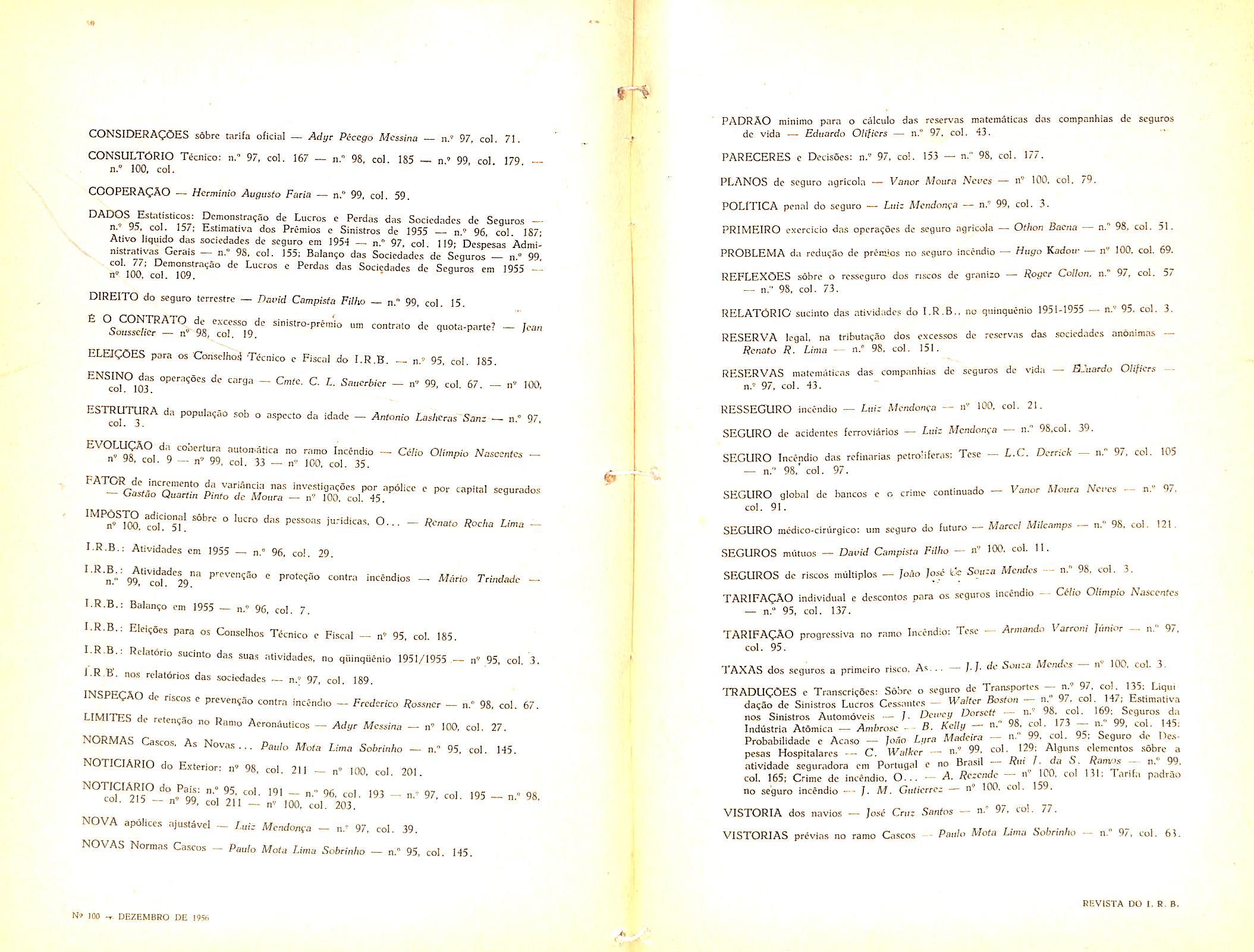
RESERVA legal, na tributacao dos excesses dc rcservas das socicdades anonimas RcnaCo R, Lima — n.° 98, col. 151.
RESERVAS matcni<Uica.s das companhias de scguros dc vida — E.hardo Olivers n.° 97. col. 43.
RESSEGURO inccndio — Lui: Mcndonfa — n" 100. col- 21.
SEGURO dc acidcntes ferroviarios — Luiz Mcndoni'a — n." 98.coI. 39.
SEGURO Inccndio das rcfiiiarias pctrolifcr.is; Tese — L.C. Derrick — n." 97, col. 105 — n." 98.' col. 97.
SEGURO global de bancos c o crime contlnuado — Vanor Moura Ncvcs — n." 9/. col. 91.
SEGURO medico-cirurgico: urn seguro do futuro — MorccI Milcamps — n." 98. col. 121.
SEGUROS mutuos — David Campista Filho — n" 100. col. 11.
SEGUROS de riscos multiplos — Joao ]ose Ge Sauza Mcndcs — n." 98, col. 3.
TARIFACAO individual e dcscontos para os seguros incendio -- Ceho Otimpio Nasccntcs — n." 95, col. 137.
TARIFAOAO progre.ssiva no ramo Inccndio; Te.sc ~ Armando Varronf Jiimor - n." 97. col. 95.
TAXAS dos scguros a priraeiro risco. As. . — J. J. de Sauza Mcndcs — n' 100, col. 3.
TRADUgOES e Transcrigocs; Sobre o seguro de Transportes — n ' 97 cd. 135; LiquI dagao de Sinistro.s Lucros Cessante.s - Waller Boston - nd 97, col 147; Est.mat.va nos Sinistros Automdvcis •- /- Dcu-cy Dorscft - n 98 col. 169; Seguros da Industna Atomica - Ambrose - - B. Kelly - n." 98 col. 'p - 99. col. 145; Probabilidadc c Aca.so - Joao Lyra Madeira - n. 99. col. 95; Seguro de De.spesas Hospitalares -- C. Walker - n." 99. col. 129; Alguns clemcntos sobrc a atividade scguiadora em Portugal c no Brasil -- Rw I■ da S Ram_^ — n. 99. col. 165; Crime dc incendio, O.. — A. Rczcndc — n ICO, col 131; T.infa padrao no seguro incendio •••• /. M. GiUtcrcez — n® 100. col. 159.
VISTORIA dos navies — Jose Cruz Santos — n.' 97, col 77.
VISTORIAS prcvias no rarao Cascos -- Pan'o Mota Lima Sobrinho — n." 97. col. 63-
ALPHABETICAL INDEX OF PUBLISHED MATTER IN "REVISTA DO I.R.B." — 1956
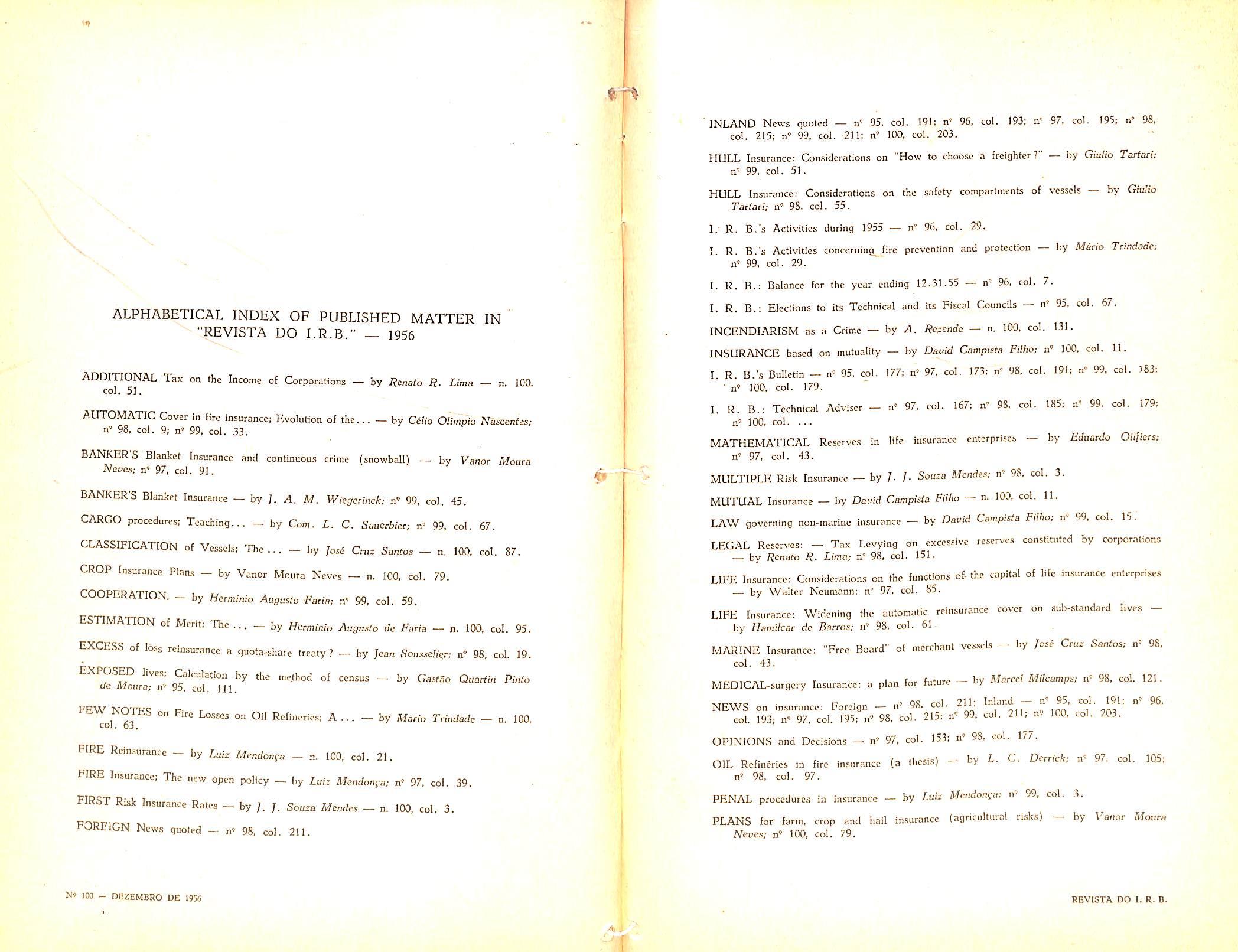
ADDITIONAL Tax on the Income of Corporations — by Rcnato R. Lima — n. 100, col. 51.
AUTOMATIC Cover in fire insurance; Evolution of the... — by Ccfio Olimpio ascent's; n' 58, col. 9; n' 99. col. 33.
BANKERS Blanket Insurance and continuous crime (snowball) — by Vanov Moma Neves; n' 97, col. 91.
BANKERS Blanket Insurance — by /. A. M. Wiegcrinck; n' 99, col, 45.
CARGO procedures; Teaching... _ by Com. L. C. Sauccbicr; n' 99. col. 67.
CLASSIFICATION of Vessels; The... — by Jose Criiz Santos — n. 100, col. 87.
CROP Insurance Plans - by Vanor Moura Neves - n, 100, col. 79.
COOPERATION. — by Herminio Anguslo Faria; n' 99, col. 59.
ESTIMATION of Merit; The ... - by Herminio Augusfo dc Faria - n. lOO. col. 95.
EXCESS of loss reinsurance a quota-share treaty? - by Jean Soussclicr; n- 98. col. 19.
EXPOSED lives; Calculation by the me.thod of census - by Gastao Quartin Pinto de Moura; n" 95. col. 111.
FEW notes on Fire Losses on Oil Refineries; A ... - by Mario Trindade - n. 100, col. 63.
FIRE Reinsurance - by Luiz Mendonfa - n. 100, col. 21.
FIRE Insurance; The new open policy — by Luiz Mcndonga: n" 97. col. 39.
FIRST Risk Insurance Rates - by J. J. Souza Mendcs- n. 100, col. 3.
foreign News quoted — n' 98, col. 211.
INLAND News quoted — n' 95, col. 191; n" 96, col. 193; n' 9/. col. 195; n" 98. col. 215; n" 99. col. 211; n' 100, col. 203.
HULL Insurance: Considerations on "How to choose a freighter?" — by Giu/io Tartari; n' 99, col. 51.
HULL Insurance: Considerations on the safety compartments of vessels Tartar!; n' 98. col. 55. by Giui'i'o
I.- R. B.'s Activities during 1955 — n' 96, col. 29.
I. R. B.'s Activities concerning^ fire prevention and protection — by Mario Trindade; n' 99, col. 29.
I. R. B.: Balance for the year ending 12.31.55 — n' 96. col. 7.
I. R. B.: Elections to its Technical and its Fiscal CouncUs — n' 95, col. 67.
INCENDIARISM as a Crime — by A. Rezcndc — n. 100, col. 131.
INSURANCE based on mutuality — by David Campista Filho; n° 100, col. 11.
I. R. h.-s Bulletin - n' 95, col. 177; n' 97, col. 173; n' 98, col. 191; n' 99. col. 583; ' n' 100, col. 179.
I. R. B.: Technical Adviser - n' 97, col, 167; n' 98. col. 185; n' 99, col. 179; n' 100, col. ...
MATHEMATICAL Reserves in life insurance enterprises — by Eduardo Olijiers; n" 97, col. 43.
MULTIPLE Risk Insurance — by J. J. Souza Mcndos; n' 98, col. 3.
MUTUAL Insurance — by David Campista Filho — n. 100, col, 11.
LAW governing nou-marine insurance — by David Campista Filho; n' 99, col. 15.
LEGAL Reserves: - Tax Levying on excessive reserves constituted by corporatiotis — by Rcnato R. Lima; n" 98, col. 151.
LIFE Insurance: Considerations on the functions of-the capital of life insurance enterprises — by Walter Neumann; n' 97, col. 85.
LIFE Insurance: Widening the automatic reinsurance cover on sub-standard lives by Hamilcar dc Darros; n' 98, col. 61-
MARINE Insurance: "Free Board" of merchant vcs.scls - by Jose Cruz Santos; n' 98, col. 43.
MEDICAL-surgery Insurance: a plan for future — by Marcel Milcamps; n' 98. col. 121.
NEWS on insurance: Foreign — n' 98. col. 21F coi. 193; 97, col. 195; n' 98. col. 215; 99. col. 211; 100. col. 203.
OPINIONS and Decisions — n' 97, col. 153; n' 98, col, 1/7.
OIL Refineries in fire insurance (a thesis) n' 98, col. 97. by L. C. Derrick; n' 97, col. 105:
PENAL procedurc.s in insurance — by Luiz Mcndonia; n' 99, col. 3.
PLANS for farm, crop and hail insurance (agricultural risks) - by Vanor Moura Neves; n' 100, coi. 79.
POPULATION: its composition according to aaes — by Antonio Lashcras Sanz; n' 97. col. 3.
PROBLEM of Reducing Fire Insurance Premiums; The — by Hugo Kadow n. iOO. col, 69.
RAILROAD Accident Insurance — by Lin": Mendon^-a; n- 98, col- 39.
RATING in fire insurance; A paper on progressive... — by Armando Varroni Junior, n' 97, col. 95.
RATING and Discounts in fire insurance; Individual... — by Cclio Oiinipio Nasccntcs: n' 95, col. 137.
RETENTION Limits in Aviation Insurance — by Adyr Messina — n. 100, col. 27. by Roger Collon; n' 97, col. 57;
REINSURANCE of hail risks; Reflections on n' 98, col. 73.
REINSURANCE: The new'regulations on hull... — by Paulo Mofa Lima Sobrinho; 11' 95, col. 145.
RESULTS ^ the first yar of operations in farm crop and hail insurance (agricultural risks) — by Othon Bacna: n' 98. col. 51.
RISK Inspections and Fire Prevention — by Frcder/co Rossncr: n' 98, col, 67.
STANDARD Rating Schedule for Fire Insurance — by Jose M. Gutierrez — n. IOO, col. 159.
loss\account.s of Brazilian Insurance Companies en 1955 — n. 100, col. 109.
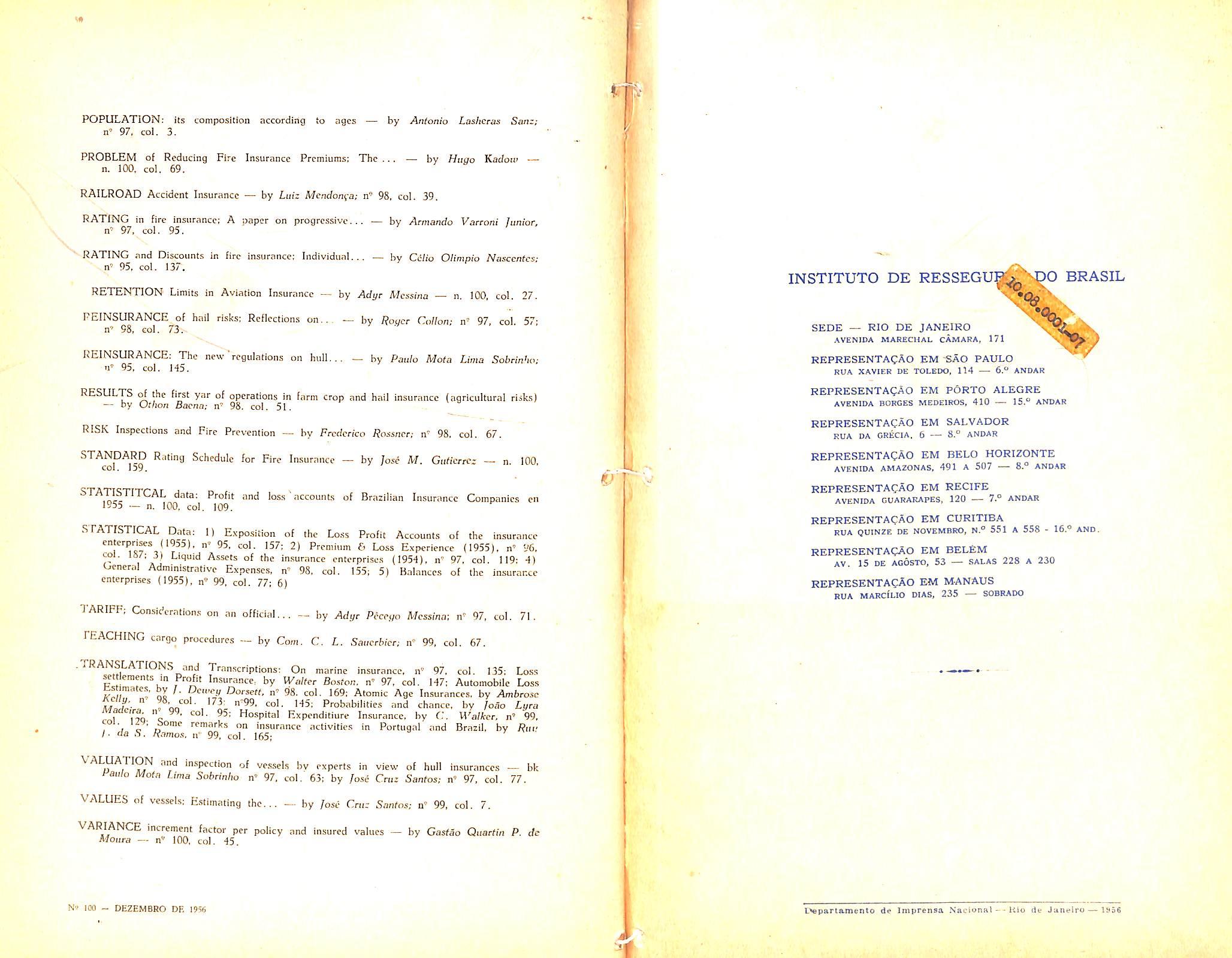
STATISTICAL Data: 1) Exposition of the Lo.ss Profit Accounts of the insurance enterprises (1955). n' 95, col. 157; 2) Premium 6 Loss Experience (1955). n' 96. col. IS7; 3) Liquid Assets of the insurance cnterprise.s (1954), iT 97, col, 119: 4) General Administrative Expenses, n' 98, col. 155; 5) Balances of the insurance enterprises (1955), n" 99, col. 77; 6)
TARIFF; Consideration.^ on an official... — by Adgr Pi-cega Messina', n" 97, col. 71.
TEACHING cargo procedures — by Com. C. L. Saucrhier; n' 99, col. 67.
.TRANSLATIONS and Trnn.scriptions: On marine insurance, n' 97. col. 135; Loss ^ttlements m Profit Insurance, by Walter Boston, n' 97. col. 147; Automobile Loss
QB '■ Oorsett. a" 98. col. 169; Atomic Age Insurance.s, by Ambrose
» 'qo''° Prol^abilities and chance, by JoSo Lyra
'l?Q "q Hospital Expenditiure Insurance, by C, Walker, n' 99. ', _ remarks on insurance activities in Portugal and Brazil, by Riii' /. da .S. Ramos, w 99, col. 165;
VALUATION and in.spection of ve.ssels by experts in view of hull insurances — bk t'aulo Mota Lima Sobrlnho n' 97. col. 63; by Jose Cm: Santos; n» 97, col. 77.
VALUES of vessels: Estimating the. — by Jose Cm: Santos; n° 99, col. 7.
VARIANCE increment factor per policy and insured values — by Gastao Quartin P. de Moiira — n" 100, col. 45.
SEDE — RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CAMARA. 171 '•
REPRESENTAQAO EM "SAO PAULO
RUA XAVIER DE TOLEDO, 114 — 6." ANDAR
REPRESENTAtJAO EM PORTO ALEGRE
AVENIDA BORGES MEDEIROS, 410 — 1S.° ANDAR
REPRESENTACAO EM SALVADOR
RUA DA GRECIA, 6 8.° ANDAR
REPRESENTAQAO EM BELO HORIZONTE
AVENIDA AMAZONAS, 491 A 507 — 8.® AND.AR
REPRESENTACAO EM RECIFE
AVENIDA GUARARAPES, 120 7.° ANDAR
REPRESENTACAO EM CURITIBA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, N.° 551 A 558 • 16.® AND.
REPRESENTACAO EM BELEM
AV. 15 DE AOOSTO, 53 — SALAS 228 A 230
REPRESENTACAO EM MANAUS
RUA MARCI'lIO DIAS, 235 — SOBRADO