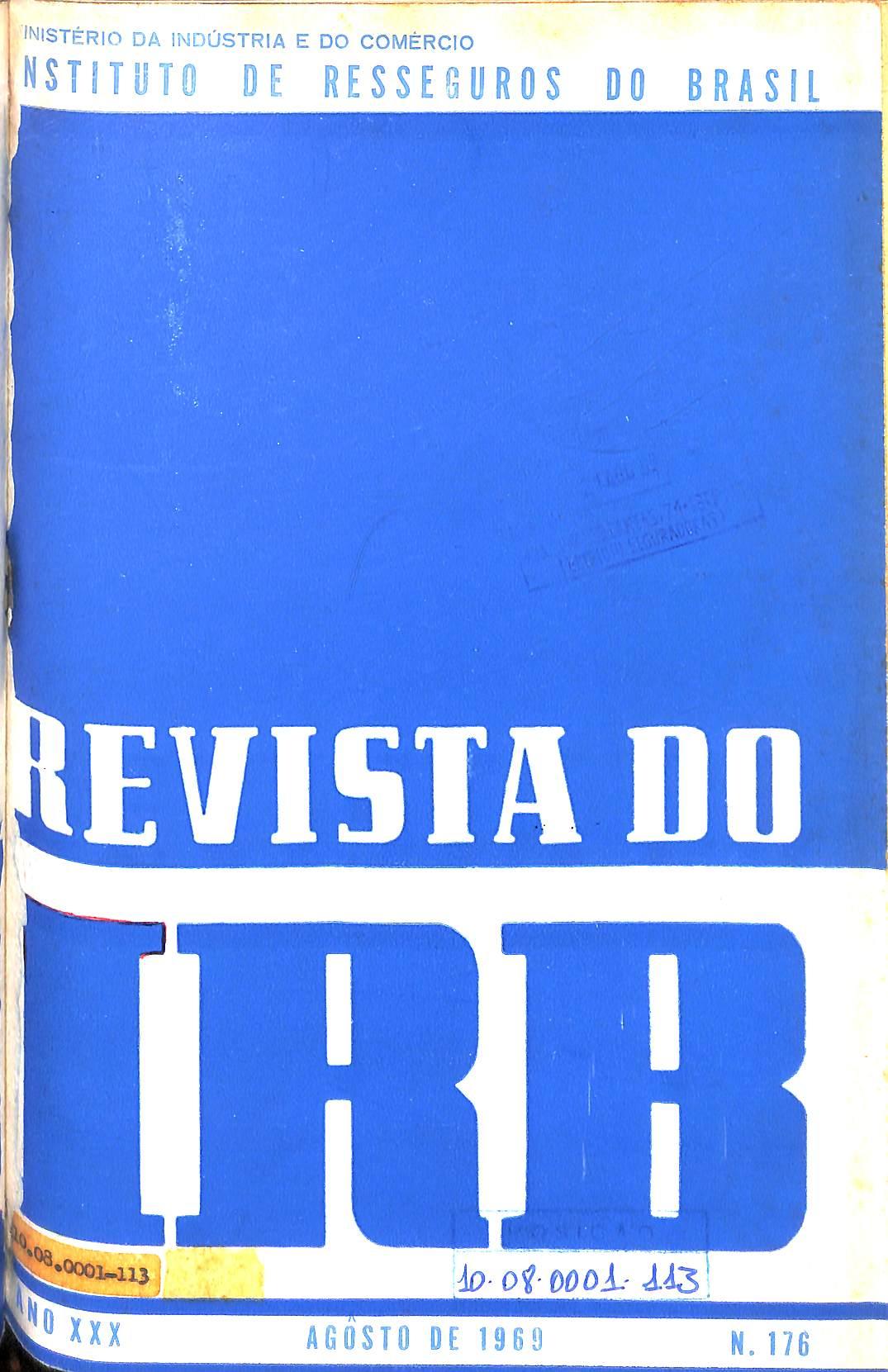
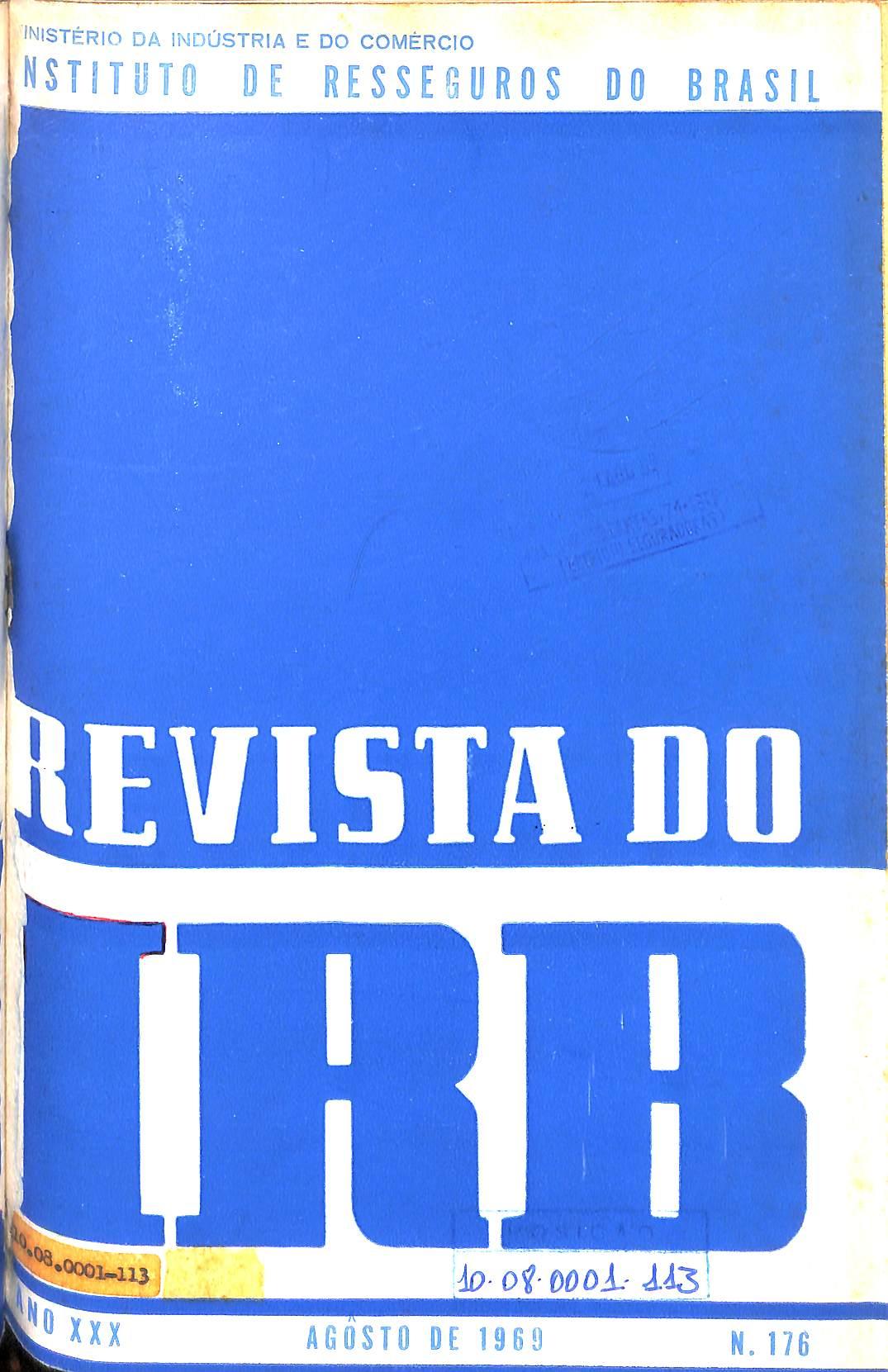
REVISTA I

REDAgAO:
Servj^ de Rela;9es Pijblicas
Avenida Marechal Cdmara, 171
Edificio Jooo Carlos Vital
Telefone 32-8055 ■ CP. 1440
Rio de Janeiro • Brasil
PUBLICACAO BIMESTRAL
Os cenceifot emitldoi am artiges sninadoi exprlmam aparrai opIniSei de savs aulerai a iSo da sua axduilva raiponsabilidada
S U M A R I
Lei|isIa(;ao maritinui, Scgiiros '/' V'^acnfc- Cumpos
Segiiro do C.redito a Exporfa^ao C. E. </c Caumrgo Aranhu
Acidentcs coin acrona\es FrarK i':; o dc A C. dc Andlar
Sinisiro neronaurico/-A. M, Ecrirird Sarmcntn
Sub-rociacao no transporte terreslro /.r dc Mmdanra Lima
De?en\olvimenio cconoinico iia A, Latina/fi'i«i/io Agrcda
Coiisulfono fecnico
}'.stafi<lica- Balam^o das sociedades de seguros
Tres podcrcs
Boletim do CNSF
B<detiiii da SLISEP
Circiilares do IRB
Eraenfario da Legislai;ao de Sequros
POPULARIZACAO DO SEGURO constitui aho da maior impOftancia. Por dois motii'os fundamentals: 1) dc ordem social, pela necessidade de levacem-se seus bencficios a camadas cada vez mais amplas da sociedade. reduzindo-se pro^ressii'amente o grau de dcsamparo do Homcm e da Familia em face da ocorrincia de acontecimentos adversos: 2) de ordem cconomica, pclo fata evidente de que, atraues da massificagao, a atividade seguvadora adquire os impulsos de crescimento indispcnsai'eis para fornar-se uma das forgas dinamicas do proprio desenvolvimento economico nacional.
OS CAMINHOS QUE PODEM LEVAR a essa popularizagao nao sao de facil localizagao. Sabe-se, por exemplo, que o ritmo da marcha para tal objetiuo final, alem de afetado pelos rumos que possam ser tragados, depende tambem, em grande parte. do proprio ritmo de euolugao da Renda Nacional, Chega a ser ate mesmo axiomMico que so a partir de determinado nivel de renda <siper capita^ o Seguro encontra oportunidade para disputar, com ccrtos bens e servigos, uma parcels do orgamento familiar.
NAO HA DClVlDA, POR£M, DE QUE por uezes surgem fatorcs e c/rcunsfanci'as que podem fauorecer essa popularizagao, apesar das dificuldades e obstaculos que Ihe sao normais. A ideia, por exemplo, agora em curso no mercado segurador nacional, de implantar-se o seguro de acidentes pessoais para espectadores de partidas e treinos oficiais de futebol, pode tornar-se um importante fator de popularizagao do Sepuro.
O FUTEBOL, NO PAIS, TORNOU-SE espetaculo de grandes massas. A pratica do seguro, ainda que parcial porqae limitada a curtos c especiais segmentos da exposigao global do individuo a acidentes, tem indiscutiuelmente a uirtude, no entanto, de propiciar uma aproximagao do publico com a previdencia. E dessa aproximagao — frequents, habi tual e, por isso mesmo, capaz de ser valiosa como experiencia podc resultar um conuivio que se transforme em fator altamente posith>o de preparagao do publico para a pratica da pretacfencia numa escala mais ampla.
ENTENDENDO QUE A COBERTURA dos espectadores de partidas de futebol, alem de ter o grande e imediato alcance social de proporcionar garantias ao publico. pode ainda tornar-se instrumento de grande valia para a tarefa de popularizagao do Seguro, o IRB procurou dar sua contribuigao para a implantagao de tal modalidade realizando os estudos tecnicos necessarios a elaboragao dc um piano operacional adequado.
fi notorio. patente, manifesto, que. neste seculo, a navegagao, o comercio maritime, e a constru?ao naval realizaram progresses estupendos. Em 1951, na Exposi?ao de Motives do Projeto n' 1-A, relativo ao Codigo de Navegagao Comercial, ja escrevia eu:

«A Marinha Mercante desenvolvcu-se rapidamente em continua progressSo, aumentou em proporgocs assombrosas o numcro, o raio de ag3o, a vclocidadc e o porte das erabarcagSes.
Ao mesmo tempo exerceram influencias decisivas sobre o transporte maritime e a industria do armamento as miiltiplas descobertas e conquistas das ciencias — sobretudo com relagao as comunicagoes tornadas rapidas e faceis — as ordens c noticias que passaram a ser transmitidas dcsembaragada e seguramente atraves do.s abismos do oceano e da vastidao do espago atmosferico.
O incremCnto e meihoria no setor das constru^Ses navais nao foi menos assombroso.
O navio moderno, gigante de ferro propulsionado mecanicamente, com capatidade para conduzir milhares de toneladas de carga, e centenas de passageiros, estd para
( Membro do Instituto Juridico Internacional de Haia; Professor Honorario das Uiiiversidades de Buenos Aires, Nicaragua e do Institute Francisco de Vitoria, da Universidade de Salamanca, Espanha.
(Conferencia proferida na «Sociedade Brasilelra de Direito Aeronautko e do Espagox, Rio de Janeiro) ,
OS nnvios dc madeira das priscas eras nrr mesma relagao que os comboios das estradas de ferro para as antigas "dlligencias-
Cogitemos sobre tudo isso e a certeza se impora que o genio humano determinou. na nossa centuria. a completa mctamorfosc do comercio c navcgagao interoccanica>--
Nos 18 anos que decorreram entre a publica^ao desse texto, o impulse progressista da navegaqao, e na constru?ao naval nao estacionou, antes acelcrou-se.
Apareceram 05 petroleiros de cente nas de milhares de toneladas, titans dos mares, e os navios mercantes nucleares. de que urn exemplar, o «Savannah». existe, embora nao trafegue.
Apareceram os submarines atomicos, em pleno funcionamcnto nas marinhas de guerra de certos paises, como os Estados Unidos.
Para muitos, os cargueiros do futuro serao esses submarinos atomicos, pela tranqiiilidade de suas viagens. pois as cargas serao transportadas livrcs dos balances e trepida^oes, e conseqiientes avarias que padecem nos navios de superficie.
Ao mesmo tempo se operava uma mudan^a radical no sistema de propul" sao dos navios, e no combustivel, que passou de carvao a oleo.
Apesar de solicitada per tanta varia?ao, tanta mudan^a, tanto progresso, apesar de provocada pelo intense movimento internacional no prepare das normas e solugoes juridicas adequadas as novas condi^oes da navegaqao, construCao naval e comercio maritime, a legisla^ao maritima nacioaal nao reagiu.
Permitani-me que me cite de novo. Em 1951, fiz estas considera^oes no mesmo trabalho acima rcferido, que infelizmente ainda valem:
■-<Ma!grado tanta transnuitagao, o direito niiutico brasilelro, pcrmaneceu estntico.
Ainda hoje aplica-se ao possante transatiantico vcrdadeirn cidadc flutuantc. cm constantes ligagoes com a terra atraves dos seus iiparelhos radlotclegraficos, normas fcitas para as cmbarcagoes a vela, niiniisculas no cotcjo com aquelas, que sulcavacn soiitarias a imensidao dos occanos, Normas concebidas para velciros cujas viagens dependem dos caprichos do tempo, e do sopro inconstantc dos vcntos. sao referidas a paquetes que sacm e chegam a dias certos c horas marcadas».
Per fsso, a atualiza^ao da legislagao niaritima brasileira e uma necessidade da vida juridica nacional, Para que a sintais, pedimos licen^a para desenrolar a vossos olhos o panorama nada lisongeiro de sua situa^ao.
Ela consta essencialmente de 2 par ies. A primeira parte c de direito in ternacional, e esta nas Convengoes e Tratados ratificados pelo Brasil, A segunda parte e nacional.
Analisemos em primeiro lugar a legislagao maritima nacional.
Nela, o direito substantive consta da Parte 11, do Codigo Comercial, e de urn niimero excessive de leis esparsas, que se vem acumulando. sobretudo nestes liltimos 30 anos.
O direito adjetivo esta nos titulos X. XVI, XVII. XVIII, XIX, XX, XXI e XXII, do Codigo de Processo Civil.-
O direito administrativo esta principalmente no Decreto n" 50.114, de 26 de Janeiro de 1961 (R.T.M.) e tambem em numerosas leis esparsas, que englobam a legislagao portuaria e sobre construgao de navios.
O direito laboral da navegagao est.i nas Segoes VI, VII e IX, do Capitulo I, do Titulo XII, da Const, das Leis do Trabalho, e leis esparsas. fisses sao textos.
Alem dos referidos existem como di reito escrito as quase-leis, que sao as regras, avisos e portarias da antiga Comissao, hojc Departamento da Marinha Mercante, do Ministerio da Marinha. e dos Departamentos Maritimos com poderes normativos como o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegaveis.
Alem disso existem os uses e costu mes do mar, que sao lei, quando a lei e omissa.
Vemos que o panorama da legislagao maritima nacional e o de uma legislagao despedagada em fragmentos, o que torna dificil e tedioso seu estudo. e consulta.
Mas. o que e muito pior, nao existe coesao entre esses diferentes fragmen tos. Um exSihe, mesmo perfunct6rio, deles, denota logo que as regras da parte internacional estao em conflilo com aquelas da legislagao nacional; as partes da legislagao nacional em conflito umas com as outras, e, ate algumas vezes. consigo mesmas.
Enfim, cheia de normas que, como dizem os franceses, urram por estarem Juntas,
E se contimiarmos o exaine. verificarernos, ainda, que as partes nacionais, embora supcrabundantes em textos sao omissas quanto a institiiigoes e contratos importantissimos, para a naveqa?ao e comercio nauticos.
Basta confronta-la com uma legisla gao moderna, como e o Codice del la
Navigazione itaiiano, ou o Codigo Japones, para verificar que, na parte substantiva deixou no esquecimento o regi me legal da navegagao interior, do dominio maritimo (isto e das praias, litorai, baixios, etc. fora das zonas portuarias) do armamento, dos agentes e representantes do armador e do navio, da responsabiiidade do armador e do construtor. e do contrato de reboque.
Na parte processual nao contem rites propridsv para as agoes de deposito e venda da carga pelo Capitao, disposigao dos salvados depois de um sinistro, regulagao e repartigao da avaria grossa, limitagao de responsabiiidade e declaragao do abandono.
Enfim. a legislagao maritima nacional e como um queijo suigo, de massa imponente, mas cheio de buracos.
Continuando a projetar o panorama patenteia-se que, na legislagao maritima nacional ha muitas disposigoes que nao se aplicam, porque cairam em desuso, ou se aplicam em circunstancias diferentes para as que foram previstas.
As partes necrosadas entre outras, dizem respeito ao dinheiro o risco ou cambio maritimo e a naufragio e sal vados
Quanto a estes, o Art. 732, do Co digo Comercial ainda manda que o Juiz de Direito do Comercio, «passe sem demora ao lugar do naufragio e empregue todas as diligencias que forem praticaveis para salvamento do navio e carga».
Os preceitos que subsistem, mas com aplicagao inteiramente diversa daquela para que foram editados. sao mormente, OS relatives aos poderes comerciais do Capitao, regulados no Capitulo III. do Titulo VI. do Codigo Comercial.
Por uma curiosa involugao, essas leis, originariamente previstas, e previstas de raodo expresso (Codigo Comercial. Art. 460) para o alto mar, ai nao se aplicam mais, mas se aplicam nos rios, lagos, na pequena cabotagem.
Na navegagao nacional onde se acotovelam os gigantescos transatlanticos, maravilhas do engenho humano. com embarcagoes primitivas, jangadas, veleiros, canoas, iates, etc., os mestres
destas ultimas embarcagoes ainda realizam as viagens e transportes como nos bons tempos do Imperio.
Num desses sempre interessantes de bates na Sociedade Brasileira de Direito Maritimo certa vez o eminente professor e magistrado, Dr, Sampaio de Lacerda, demonstrou que esses mestres, como os capitaes de antanho, fazem peios armadores todos os contratos e negocios re latives aos transportes de mercadorias e passageiros, e que a lei. obsoleta na na vegagao do alto mar e ali, obedecida.
Ainda, infelizmente, nao podemos encerrar a longa lista dos defeitos da le gislagao maritima nacional.
Projetando a luz sobre todos seus angulos, averiguaremos que, dada a multidao de leis promulgadas depois do Codigo Comercial na materia maritima, sem cuidado na preparagao, sem a necessaria reflexao, e carecendo de redagao cuidadosa, nao ha nunca era nossa legislagao maritima, certeza certa da revogagao das leis anteriores pelas leis posteriores, nem mesmo existindo pronunciamento do Egregio Supremo Tri bunal, poder competente para isso. Como esta minha assertiva pode parecer temeraria, vou pedir licenga para uma digressao.
O Art. 482, do Codigo Comercial que diz que os «navios estrangeiros surtos nos portos do Brasil nao podem ser embargados nem detidos, ainda mesmo que se achem sem carga, por dividas que nao foram contraidas no territorio brasiIeiro», foi considerado pelo Egregio Supremo Tribunal em 1918 no caso do navio argentine «S. Lourengos, contrario ao principio constitucional da igualdade entre brasileiros e estrangeiros. Portanto, implicitamente revogado.
Mas, se alguem, acreditando nisso, requcrer arresto do navio estrangeiro, informe-se antes do caso do navio alemao «Windhuk» e de outros do nosso foro.
Invariavelmente os arrcstados invocam esse artigo, e freqiientemente conseguem escapar, pela sua aplicagao, Squela medida. Se esta revogado o Art. 482 por que continua figurando no corpo da lei?
Ainda ha dias numa dessas frutuosas sessoes da Sociedade Brasileira de Di reito Maritimo, um distinto e justamente renomado maritiniista referia que executara um credito fazendo valer a hipoteca tacita do Art. 470, do Codigo que se diz extinta ha varies decenios !
Na questao das vistorias e prazo dos mesmos, em toda questao sobre faltas e avarias, la surge o Art, 618 do C6digo para confundir o direito dos lesados, embora, tambem o Egregio Supremo Tribunal tenha julgado que a vistoria em 24 horas, era um preceito inaplicavel na navegagao moderna.
Evidentemente isso nao sucederia, se na nova lei houvesse o cuidado de expurgar a lei antiga dos preceitos contra ries.
O nosso sistema porem, permite, que de boa ou ma fe, se invoquem e apliquem preceitos incompativeis com a realidade brasileira atual, donde o caos.
Contrariamente a legislagao maritima nacional, a se apresentar viva e atuante a internacional.
Nela verificamos uma floragao de di plomas, todos inspirados num verdadeiro espirito de justiga e no melhor di reito.
& uma legislagao magnifica, um templo grandioso, onde se veneram a solidariedade humana, e se fixam meios pacificos para solugao dos dissidios conseqiientes a utilizagao de navio como meio de transporte, a navegagao c comercio maritimos.
Destacaremos nela as Convengoes de Barcelona de 1921 sobre o transito ma ritimo e regime de portos, as Conven goes de Bruxelas de 1924 sobre abalroaSao, assistencia e salvamento e conhecimentos e limitagoes da responsabiii dade dos proprietarios de navios, as Convengoes de Genebra sobre trabaIho maritimo, e sobretudo a Convengao para salvaguarda da vida humana no mar.
Essa legislagao pelo trabalho de organismo da ONU e de outros organismos piiblicos internacionais, e sociedades privadas de ambito mundial, como o Comite Maritimo Internacional e contlnuamente atualizada.
Notaremos o que ocorre num setor que miiito interessa a SOBENA. a construgao naval.
As regras a respeito (notadas de for ma sumaria e deficiente nos Arts. 170 e seguintes do Reg. do Trafego Mari timo) tern um Codigo completo no Ca pitulo 11, da Convengao Internacional para Salvaguarda da vida humana no mar, (Convengao de Londres, 1960) que esta sempre sendo objeto de estudos com vistas a adaptar-se ao progresso e novos metodos da construgao naval por uma Organizagao das Nagoes Unidas, a O.M.C.I. (Organizagao Intergovernamental da Navegagao Maritima). Sao membros dessa organizagao 30 membros, isto e, 30 nagoes maritimas.
Da mesma sorte a Convengao Inter nacional de Londres, sobre linhas de carga, ou de franco-bordo, racificada no Brasil, pelo Decreto-Iei n'-' 111, de 28 de dezembro de 1937.

De forma que nesse como em outros setores da legislagao maritima (por exeraplo na assistencia e salvamentos, abalroagoes, etc.) a lei internacional supre as deficiencias da lei nacional.
Desgragadamente. porem, a aplicagao integral das leis internacionais e muito prejudicada no Brasil, pela coexistencia de leis nacionais que Ihes sao contrarias. Vou pedir licCnga para me estender sobre este assunto que reputo dos mais graves.
Efetivamente a questao de saber se as Convengoes Internacionais devidamente ratificgdas revogam ou nao as leis nacionais sobre a mesma materia ainda esta por resolver.
O Professor Waldemar Ferreira com a autoridade que todos Ihe reconhecem. doutrina que uma Convengao Interna cional, embora ratificada, so tem forga ue lei, no Brasil, depois de proposta e aprovada como lei de conformidade com OS dispositivos constitucionais.
Co!ocando-se em piano diametralmente oposto, o ilu.stre consultor geral da Kepubhca, Dr. Adroaldo Mesquita da recentemente (julho de 1964) que as Convengoes Internacio nais, depois de ratificadas devem apli-
car-se. como norma interna, e, portanto, revogam as ieis nacionais em contrario.
A doutrina, e a jurispriidencia dos tribunais, osciiam como um pendulo entre essas duas teses opostas, como fazem certo os pareceres de Clovis. Castro Rabeilo, Orozimbo Nonnato. Haroido Valladao, e outros.
O Supremo Tribunal Federal, ainda nao se pronunciou a respeito, donde diividas serissimas que surgem nos Tri bunals quanto a lei aplicavel aos fatos e sinistros do mar, qiiando intervem estrangeiros, ou navios estrangeiros, e mesmo em rela^ao a brasileiros e navios brasileiros, quando invocada uma Convengao Internacional.
Valera a lei do paviihao, ou a lei In ternacional? Imediatamente surgem os conflitos que sao resolvidos de modo diferente, ao saber das preferencias dos juigadores.
Ainda que certas Conven^oes como aquela sobre abalroagoes (Art. 12, 2") preceituem que «quando todos os interessados sac dependentes da jurisdigao do mesmo estado que o Tribunal provocado, e aplicavel a lei nacional. e nao a Convengao», o direito fica perplexo em havendo, sobre as mesmas rela^oes juridicas leis diferentes, como sao as ieis internacionais sobre abalroagao, assistencia. etc. e as ieis nacionais so bre OS mesmos acidentes do mar.
Pot isso as na^oes maritimas, quase todas, prcmulgaram leis a respeito, dentro do espirito das Convenqoes, para suprimir a feia anormalidade, resultante da contradigao entre normas vigorantes no pais, e aqiielas aceitas e aprovadas no mesmo pais, nos conclaves internacionais.
No Brasil, porem, persiste a situaqao anomala. Pior ainda. entre nos sao esquecidas certas conven^oes apesar de o Brasi! ter einpenhado internacionalmente sua palavra, no sentido de darIhes integral aplicaqao,
Assim a Conven(;ao Internacional sobre Privilegios e Hipotecas, que ratificou o Dec. 351, de 1 de outubro de 1935, apesar do solene compromisso assinado (Art. XIV) no sentido de que as disposigoes dessa Conventao
«seriam aplicadas no Brasil quando o navio gravado pertencesse a sua jurisdigao, assim como nos outros casos previstos nas leis nacionai.s» deixou esse diploma ficar letra morta.
Focalizamos essa silua^ao porque e tipica do confusionismo reinante na Legislagao Maritima Nacional, pois nao obstante aquela Convencjao, vigem no Brasil sobre a materia duas !cis, c leis contraditorias — o Codigo Comercial, Art, 470 e o Dec. 351. de I de outu bro de 1922. Art. 20.
Entre um e outro nao so diferem a natureza dos privilegios como a ordem em que cstco colocados, Dificuldades maiores surgem da coexistencia da Convenqao Internacional para Unifica^ao de certas regras concernentes a Limita^ao da Responsabiiidade dos proprietaries dos navios de mar, ratificada pelo Dec. 350, de I dc outubro de 1935. com o Art, 494, do Cod. Com.
Esses diplomas regulam de modo inteiramentc diferente a responsabilidade dos proprietarios do navio pelas dividas e prejuizos conseqiientes a sua explora^ao.
A Convengao limita essa responsabi lidade ate a concorrencia do valor do navio, dos fretes e acessorios, o Cod. Com., extingue-a pelo abandono.
Ao problema das leis internacionais coexistentes com leis nacionais diferen tes. acresce um outro, das Conven^oes que nao foram ratificadas pelo Brasil. mas sao observadas internacionalmente, e nacionalmente como «/a bonne cautume de mecx.
Exempio disso as regras sobre conhccimentos maritimos. Pelos uses c cos tumes do mar. codificados na Conven?ao Internacional, sobre Certas Regras na materia dos conheciraentos, a funcao deste documento. como titulo do contrato de transporte, tornou-se secundaria.
Sua fun^ao principal, atualmente no comercio, mormente no Comercio Inter nacional, e servir de titulo representatiro das incrcadorias que nelc foram declaradas. Quer dizer, as compras e ven-
das nao se fazem a vista e exame das mercadorias. mas a vista e exame dos conhecimentos,
Ora, e evidente que o conhecimento lUinca seria accito com esse valor, se nao houvesse certeza de que as merca dorias existem, e existem em boas condigoes. Essa certeza quem da e o armador.
Expedindo o conhecimento. consoante a Conven<;ao. ele garante que as mercadorias existem e que as recebeu, c que verificou o estado em que foram entregues.
Se estavam em bom estado, expede conhecimento limpo. Se as recebe com defeitos ou avaria.s. suja o conhecimen to, isto e, ressalva neie o que notou.
Nos paises onde a Conven^ao e aplicada, nao se admite que o transportador maritime que expede conhecimento 'impo, entregue uma carga avariada. E obrigado a pagar scm discussao os preinizos do comprador.
Entre nos, os juizes admitem que o transportador possa provar que recebeu mercadorias avariadas, nao obstante ^ evidencia do conhecimento limpo,
Nao pode haver mais completa incompreensao do direito maritime onde OS usos c costumes-lei sao, sendo a lei escrita omissa, nem das fun?6cs do co nhecimento moderno.
Diante disso tudo perguntarao certamente os que me escutam — qual a ra2ao de tanto tumulto, tanta confusao? Em geral responde-se que c porque o tronco de nossa legislagao maritima. que e a Parte 11 do Cod. Com. csta caduca per velhice, e, nos termos do Ministro Philadelpho de Azevedo «tornou-se inviave! para este seculo».
Isso e ura tanto injusto. Essa lei e Uma grande lei, um canone de sabedoria, profundo nos conceitos e castigo na forma,
Como disse o ilustre jurista Dr. Sampaio de Lacerda, em conferencia pronunciada no I.A.B., a 24 de agosto de 1960 — «mantem-se altaneira, porque nao pode ser ultrapassada pelas tentativas de reforma que j.a se fizeram«, embora tenha nascido ja bem

velha, como notaram os Professores Castro Pabello e Bczcrra Camaca, eis que deriva do Codigo Portugues de Fcrreira Borges. o qual por sua vez traduziu o Codigo Espanhol, Codigo de Fernando VII. eiaborado por Sainz de Andino, na base do Code dc Commer ce frances de 1807, o qua! reproduz as OrdenagSes do Rci Luiz XIV de 1673 e 1681, as quais por sua vez apenas sistematizam os estatutos maritimos medievais.
Os c6digos frances e espanhol, muito mais velhos que o nosso, estao a par das novas condigoes da navegagao, e construgao naval, porque o legislador, nesses paises. tem tido o cuidado de atuaiiza-los, assim como de conformar sua legislagao posterior as convengoes internacionais.
Se nosso Codigo e nossa legislagao maritima se encontram como estao, nao e por caquexia, e por desleixo.
Em suma, a legislagao maritima patria. seria um desastre nacional, nao fosse a agao da Comissao de Marinha Mercante no setor administrativo, e do Tribunal Maritime no setor judicial. A primeira formando paralelamente a le gislagao maritima confusa, tumultuaria e contraditoria, e, em parte enfeixada nas mortalhas do passado um novo di reito atual e vivedouro. merces dos seus poderes normativos , .
Basta efetivamente percorrer as colegoes das deliberagoes e avisos da Co missao de Marinha Mercante. para verificar com que sentido de justiga, c consciencia das reals necessidades da navegagao. e dos legitimos interesses, dos armadores e tripulantes, estabeleceu normas reguladoras, do trafego, dos fretes. dos conhecimentos e dos direitos e obrigagoes das equipagens. e o ctedito maritime, e muitas outras atividadcs.
De sua parte o Tribunal Maritimo tornou-se uma catedra onde o Direito Nautico nas suas expressoes mais sensiveis, se afeigoou em sentengas que honram a jurisprudencia, pela eqiiidade de suas coiiclusoes, e pelo notavel sa ber que seus fundamentos desvelam,
Essas duas prestimosissimas instituigoes .salvaram nossa legislagao mariti-
ma do inevitave] naiifragio a que estaria condenada. se deixada a merce dos escarceus que a assaltavam.
Evidentemente, porem, e preciso, e necessario, e urgente p6r em ordem a nossa legislagao maritima, Os progressos cientificos e tecnologicos tern permitido a explora^ao, e o aproveitamento cada vez maior do mar.
As Iegisla?6es maritimas modernas nao sao so do mar e da navega^ao. Estendem-se aos recursos e propriedades das plataformas continentais e ate mesmo aos do fiindo do mar.
A 22' Assembleia Geral das Na^des Unidas adotou uma resolu^ao criando um Comite ad hoc para estudo do uso pacifico do fundo do mar, alem dos limites das jurisdi^oes nacionais, isto e, alem do mar territorial. Desse Comite fez parte o Brasil.
Alem disso a iiberdade dos mares se considera sob novos aspectos.
O eminente Marechal Hugo da Cunha Machado. um dos nossos maiores juristas, em seguida a Conferencia havida em fevereiro deste ano em Miami, revelou que no Direito do Mar se comecou a cstudar o Habeas Ma rinas, isto e, a cria^ao do Habeas Cor pus ou Mandado de Seguranga que permitisse o uso de uma ordem internacional para libertar as pessoas, os navios, ou coisas do mar arbitrariamente arrestados ou detidos. consoante proposta do jurista americano Luiz Kutner.
Nao devemos ficar a margem do intenso esforgo legislativo desenvolvido internacionalmente e nas nagoes mari timas estrangeiras quanto ao Direito do Mar.
Devemos nos interessar pelas novas leis sobre navegagao, pescaria. langamento de cabos, transportes maritimos, conhecimentos, avarias, etc.
Nao podemos nos apresentar tao dcsarmados de Direito e de Jurisprudencia, nos debates, cada vez, mais fervidos, mais serios, que se sucedem inter nacionalmente com reiagao a plataforma submarina, e a extensao dos mares territoriais e uso pacifico do fundo do mar,
Nesse proposito tenho me empenhado, laboriosamente, desde 1940, data em que por incumbencia desse grande jurista, esse brasileiro notavel que foi Francisco Campos, entao Ministro da Justiga, elaborei uma Lei Organica dos Transportes (Diario 0[icial de 5 de julho de 1940) a qua! foi jogada a margem na queda do Presidente Getiilio Vargas.
Depois disso em 1951. por noiiieagao do eminente Dr. Adroaldo Mcsquita da Costa, Ministro que era da Justiga. participei, como Relator de uma Comissao integrada pelos Drs. Trajanodc Miranda Valverde, Adalbert© Darcy e Fernando Bastos de Oliveira, a qual redigiu um Projeto de Codigo de Nave gagao, que foi apresentado ao Congresso Nacional, como Projeto n" 1, de 1951 (Diario Oficial de 28 de abril de 1951) da Camara dos Deputados.
fisse Projeto embora objeto de lisbnjeiras referencias de um Grupo de Professores Italianos, entre os quais Lcfcbyre D'Ovidio. Pescatore e Russo. na Revista Del Diritto della Navigazione, de Professores. entre os quais Paul Scapcl. e Georges Marais, embo ra recebesse pareceres favoraveis na Comissao de Justiga da Camara dos Deputados a 3 de dezembro de 1953 (D.O. de 24-4-54) e em outras Comissoes, assinados entre outros. pelo entao Deputado, Ministro Oswaido Trigueiro, e pelo atual Ministro da Educagao Tarso Dutra, por motivos que nunca pude apurar nem me foram explicados, continua tramitando naquela casa do Congresso.

•Um terceiro projeto, elaborado per iniciativa propria, foi por mim preparado ao ano retrasado, e distribuido em exemplares mimeografados pelo Sindicato Nacional dos Armadores.
fisse Projeto, de que pego licenga para oferecer um exemplar a SOBENAteve melhor fortune, parece-me. que os outros, pois o jurista encarregado pelo Governo, em boa hora, de preparar um Codigo da Navegagao, o eminente e respeitado Professor Jose Ferreira dc Souza, se interessou por ele e durante alguns meses se dedicou, com minha
assistencia assim como da palavra sempre fortalecida pela ligao de direito do grande professor, Juiz, e Jurisconsulto, /. A. Pennalva Santos, e tambem do provecto comercialista Dr. Joao SofcIho, a remodela-lo, e corrigi-lo, para na base do mesmo redigir seu Projeto, atualmente em revisao no Ministerio da Justiga.
Nesse projeto pode-se afirmar que se encontrarao atualizadas as regras da iegislagao maritima brasileira, pois as apresenta adaptadas as exigencias da navegagao. construgao de embarcagoes e comercio maritime modernos, livre das suas deficiencias e supridas suas omissoes, e corrigidos seus anacronismos e arcaismos.
Conservou apenas dessa Iegislagao as normas e preceitos cuja utilidade se revelou por sua longa aplicagao, e cujo entendimento esta esclarecido pelo trabalho de jurisprudencia, pois tais nor mas constituem uma riqueza, sao joias do patrimonio juridico nacional que seria insensate dilapidar.
Tambem considerou o Projeto que se juristas de todas as nagoes, com intenso trabalho, das ruinas do antigo direi to maritime, estao elevando outre, mais belo, de linhas harmonicas, forte estrutura e estaveis fundamentos, as leis ma ritimas devem ficar preparadas para absorver, naturalmente, as novas Convengocs, assim como as modificagoes nas Convengoes existentes.
Criou, por isso o Projeto, uma Iegis lagao plastica, maleavel, para que suas regras nao se mumifiquem. na imobilidade centenaria que afetou o nosso Co digo Comercial em razao da inercia do legislador,
Preparou-a para reformar-se sem passar pelos tramites dcmorados e complicados que exigcm a derrogagao das leis antigas e promulgagao das leis novas,
O Projeto orientou destarte a Iegis lagao maritima brasileira para a «/e/fz efapa» que apontam Smesters e Winkelmolen «da unijicagao do direito do mar, da realizagao do progcesso que rcsultara do fato de uermos regidas, por normas idinticas, nautos que aruoram
pavilhoes diferentes, mas que cscao sujeitos aos mesmos riscos, aos mcsmos perigos, e que consagrados a rida economica mundial, concorrem a mesma meta e scrvem a mesma causas-.
O Projeto. afinal, planejoii a Legislagao Maritima Brasileira do alto mar identica a internacional, porque esta e elaborada mediante um estudo longo, meditado, consciencioso dos problemas que sera chamada a disciplinar e esta envazada numa expressao clara, e tecnicamente perfeita.
O Projeto, porem, nao esqueceu que. no alto mar, o principio de autoridade esta na nogao de soberania do pavilhao, nao so as pessoas, mas tambem os na vios {dotadas de uma nacionalidade, e assim vinculados a nagao onde estao matriculadas) e que no alto mar essa soberania nao se choca com nenhuma outra soberania, ou autoridade, mas na Navegagao Costeira e fluvial, eia conflita com a autoridade territorial, e quando esta em aguas territoriais es trangeiras, com a soberania da nagao estrangeira. Por isso, nesses pontos, atendeu preferencialmente ao interesse nacional, com normas indicadas para ampara-lo.
A Regulagao Administrativa Mariti ma, no sistema de Projeto, tem apenas normas e diretrizes gerais na lei, por que suas regras devem ser postas pelo Governo, atraves de regulamentos. como ate hoje se tem feito.
Recomenda-se essa orientagao porque as transformagoes pelas quais passam continuamente a seguranga, higiene e policia da navegagao, a tecnica dos transportes e da construgao dos navios, e, tambem os sistemas de carga, descarga, estiva, que tendem a assumir novas formas, atraves do uso dos «containers», exigem de imediato nova disciplina,
Fosse a materia objeto de lei, essas modificagoes e alteragoes teriam que processar-se na forma lenta e complicada, que exigc a derrogagao de uma lei, e promulgagao de lei nova, no Con gresso Nacional, quando o interesse piiblico reclama que sejam procedidas rapidamente,
Alias e patente a publicizacao da navigagao, pelo aiimento continue das disposigoes legais. ou de ordem normativa, que cerram caminho a livre iniciativa. proporcionando ao Estado uma ingerencia cada vez maior no campo das atividades que nela se desenvolvem.
Essa situagao cria intricados problemas que so podem ser resoividos regulamentarmente, nao so porque as maiores empresas de navegagao no Brasil pertencem ao Estado. e e.xercem sua industria sob regime especial favorecido como tambem porque a Comissao de Marinha Mercante opera como controladora e fiscalizadora das outras em presas.
Para muitos, a materia maritima processual deveria continuar no Codigo de Processo Civil como esta atualmente.
O Projeto seguiu orientagao diversa, por isso que admitir na disciplina de um Codigo da Navegagao Maritima separagao entre a essencia e a foma, entre seu direito material ou substantive c o direito processual, ou adjetivo, e compiicar o que tao simples se apresenta, demolir varios institutes, como dos protestos. das avarias, do naufragio e salvados, do abandono e limitagao da lesponsabilidade, entre outros.
Neles a desarticulagao da parte ma terial da forma! resultaria na permanencia dos males que ate hoje nos afligem nas demandas em que se pede aplicagao do direito do mar.
Tirem-se do Codigo da Navegagao Maritima os ritos processuais e teremos um edificio levantado no ar e sem alicerces, tao entrelagadas com as instituigoes de direito maritime estao as disposigoes proce.ssuais. que precisam estar cone.xas para produzir um todo sistematico e harmonico.
O Codigo Comercial nos da exemplo dis.so pois se apresenta pejado de regras simplesmente processuais, arresto de navio, na sua venda judicial, defesa do.s privilegios maritimos, na repartigao e regulagao da avaria grossa, no tratamento dos salvados, etc,'
Se existe nessas materias tal amalgama entre a.s disposigoe.s de uma e outra
ordem, de modo a nao ser possivel distinguir o que pertence a cada uma, a que proposito corre.sponderia o interesse de legisiar separadamente sobrc o pro cesso?
Nao 0 vemos. quer sob o ponto de vista da harmonia da lei. quer do sistema logico e correto a que deve obedecer.
O projeto termina com disposigoes disciplinares e penais. Essas disposi goes constam, no direito em vigor, no Regulamento do Trafego Maritime.
Nos termos dos §!; 20 e 27 da Constituigao, porem, essas disposigoes sao de aplicagao duvidosa. pois devem constar da Lei. onde te-las consignada, o Pro jeto.
Diz muito bem Ripert que a Marinha Mercante tem um direito disciplinar e penal que Ihe e proprio. As fungoes especiais correspondem dcveres mais rigorosos, e esses devcres tem sido tradicionalmente sancionados por pcnalidades tanto maiores quanto maior a gravidade da infragao, mas sempre severos,
Em muitas nagoes a profissao de maritimo e equiparada a militar e sujeita a um Codigo disciplinar e penal.
O projeto ainda nesse ponto nao quis arredar-se dos precedentes no Direito Nacional, para seguir modelos estrangeiros, embora o sistema existente, em comparagao aos outros paises, parega de uma brandura ate mesmo perigosa.
Mas o fato e que tem. apesac dos seus defeitos conseguido colimar seus objetivos, pois a ordem e a disciplina nos navios mercantes nacionais raramente sao alterados,
Da mesma forma que no Regulamen to do Trafego Maritimo, as penas dis ciplinares mais leves sao impostas pelo Capitao, as mais graves pelo Capitao do Porto.
O Projeto nao dispoe sobre os crimes maritimos, apenas esclarece a natureza daqueles mais frequentes e mais serios. como OS de barataria e os de danos ao navio. e a de insubordinaglo em grupo, cuja caracterizagao, era dificii, no Co digo Penal.
0 Sequro de Credlto d Exportagdo
Carlos Eduardo de Ca.margo Aranha Prcsidcntc do IRBO Brasil tornou-se pioneiro do seguro de credito a exportagao na Ame rica Latina, implantando tal modalidade no ano passado, O acontecimento foi cercado da solenidade que sua na tureza e importancia exigiam, rcalizando-se. no dia 25 de abril daquele ano. cerimonia especial presidida pelo Excelentissimo Senhor Minjstro da Indus tria e do Comercio.
Em 1968, portanto, tivemos apenas oito meses de operagoes. Apesar disso, a arrecadagao de premios foi da ordem de 20 mil dolares, assumindo-se responsabilidades superiores a 3 miihoes de dolares,

«Guerra [ria» do credito
Nas vendas de bens-de-capital e de bens-de-consumo duraveis, a competigao internacional entre os paises tradi cionalmente exportadores deslocou-se. gradativamente, da area dos pregos. onde ja comegavam a ser tangenciados OS limites impostos pelos custos de pro-
dugao, para exercitar-se no campo do financiamento. De tal modo exacerbcuse a concorrcncia para a conquista de mercados importadores, que se chegou mesmo a falar de uma verdadeira «guerra fria» do credito.
Os esquemas habituais de financia mento baseavam-ise em garantias, entretanto, que ja nao se compatibilizavam com a nova feigao assumida pelo credito nessa reviravolta que se processava no comercio internacional. Impunha-se a necessidade da criagao de instrumentos e mecanismos mais adequados a protegao dos riscos financeiros atinentes aos novos e agcessivos sistemas de vendas a prazo.
Seguro, a sohigao
A .solugao para o importante problema enfrentado pelo mercado interna cional encontrou-se, afinal, na criagao do seguro de credito a exportagao.
Hm ritmo acelerado, esse novo instrumento de protegao e garantias pas-
sou a ser implantado nos diversos paises exportadores. Tratando-se de modalidade em que o objeto da cobertura e constituido per riscos de natureza muito especial e que, alem disso, exigem para seu melhor conhecimento a analise nao so da conjuntura mundial mas. tambem, das sistemas economicos dos paises importadores, torna-se indispensavel, nesse sefor, a estreita e permanente cooperagao internacional entre OS seguradores.
Na Europa, com larga e importante folha de servigos prestados ao desenvolvimento desse seguro, existem duas associagoes internacionais de segurado res: a «Uniao de Berna» e a «International Credit Insurance Associations,
Na America Latina, varies sao os paises que se preparam para a implantagao de tal seguro, alguns deles ja com estudos em fase final. For isso mesmo, cogita-se desde logo da criagao da «LIniao Ibero-Americana de Seguro de Creditos, entidade internacional projetada para propiciar o intercambio tecnico e informativo que sera essencial ao aperfeigoamento e desenvolvimento do !seguro em todo o nosso hemisferio.
Hoje em dia, a fungao desempenhada pelo seguro de credito a exportagio ja nao e apenas encarada como a de propiciar a absorgao de riscos financeiros das vendas internacionais. Vai alem, tornando-se tal seguro um poderoso agente de estimulo e expansao do comercio internacional. Garantindo o credito — e, assim, multiplicando as oportunidades de venda — o seguro acompanha e assiste a industria nos seus movimenfos de conquista de ciientes extcrnos, fazendo-se presente em todas as etapas do processo de exportagao.
Desenvoli'imcnto brasileiro
A industrializagao brasileira. estimulada no apos-guerra pelo processo de substituigao de importagoes, alcangou rapido e notavel desenvolvimento. Agora, porem, adveio a etapa em que, praticamente ocupadas as areas de consumo interno antes supridas pelas im portagoes, carece a industria brasileira de ultrapassar as fronteiras geograficas e economicas do Pais. para continuar exercendo seu papel dinamico no de senvolvimento nacional. £sse e, alias, o diagnostico da problematica economica nacional, que serviu de base ao Governo Federal na elaboragao da nova Estrategia do Desenvolvimento.

Portanto, quando o Pais se empenha em estimular ao maximo os seas indi ces de exportagao de produtos industriais, por ser esse o caminho do de senvolvimento economico. torna-se fun damental a cooperagao do seguro de credito a exportagao para a realizagao de tal objetivo, Dai a atuagao que desenvolveu o IRB no sentido de imptantar tal seguro.
Riscos cobertos
No seguro de credito, o exportador brasileiro encontra cobertura tanto para OS riscos Comecciais quanto para os Politicos e Exttaocdinacios.
O que configura os riscos comerciais e a insolvencia do devedor, caracterizada pela decretagao judicial da falencia ou da concordata, pela conclusao de acordo particular com os credores para pagamento parcial dos debitos ou. ainda, pela insuficiencia de bens, comprovada em processo judicial de execugao da dlvida.
Os riscos Politicos e Extraordinarios compoem ampla game de acontecimentos. abrangendo prejuizos decorrentes. por cxemplo, dos atos ou fatos seguintes:
a) guerra civil ou estiangeira, revolugao. comogao civil ou ocorrencias similares no pais do devedor;
b) medidas governamentais que, impegam o pagamento da dlvida ou a transferencia na moeda convencionada, bem como a moratoria de carater geral:
c) ocorrencia de catastrofe que impossibilita o pagamento da divida;
d) requisigao, destruigao ou danificagao. por ocorrencias de carater poli tico, dos bens vinculados ao credito segurado;
e) recuperagao autorizada de mercadorias, pelo exportador, para obviar risco politico latcnte;
f) frustragao de exportagao ja contratada^ por decisao governamental do pais exportador ou importador.
Assistencia ao Exportador
Atraves do seguro, o exportador obtem, nao so a garantia efetiva do recebimento de todos os seus creditos, Has tambem uma valiosa prestagao-de-servigos. O segurador, por exemplo, atraves da analise de informagoes cadastrais, pode orienta-lo gratuitamente na seiegao de negocios. na fixagao de creditos e das respectivas condigoes de pagamento.
O refinanciamento, por outro lado, a viabilidade da operagao e grandemente influenciada pela protegao dada ao cre dito atraves do seguro — o que constitui outro servigo de carater relevantc.
Diuulgagao e possibilidades do Seguro
O Instituto de Resseguros do Brasil tem procurado dar ampla divulgagao ao seguro de credito a exportagao, a fim de esclarecer e conscientizar os ex portadores brasileiros sobre a eficacia de tal seguro como instrumento de ex pansao de vendas externas.
Varias cidades brasileiras ja foram visitadas por tecnicos do Instituto para contatos e reunioes com exportadores. nesse trabalho sistematico de divulga gao e esclarecimento. No momento, co gita-se da realizagao de mais uma Semana de Seguro de Credito, cm Sao Paulo, para ampla exposigao da materia, e uma proveitosa e esclarecedora troca de ideias com os exportadores e seguradores paulistas.
Com esse trabalho de esclarecimento o seguro de credito a exportagao dara contribuigao cada vez maior ao incremento das nossas vendas de produtos industriais no mercado internacional. Estima-se que, este ano, tal seguro registre arrecadagao da ordem de 70 mil ddlares.
O movimento de 1968 e dos primeiros meses de 1969 abrangem, aproximadamente, quatrocentos embarques de mais de 24 exportadores. Ate maio deste ano, as operagoes de tal seguro ja superaram a cifra global do Exercicio de 1968.
Nao ha qualquer diivida, portanto. de que o seguro de credito a exporta gao ja sc firmou no Brasil, completando a cstrutura financeira do nosso co mercio exterior para que, na pauta deste, as manufaturas ocupem posigao compative] com as necessidades e diretrizes do processo de desenvolvimento economico nacional.
Seguro e Indenizagoei, em Caso de Acidentes com Aeronaves Civis
as demais aeronaves, incluindo pas.sageiros. tripulantes c R.C.
O Ramo Aeronautico ocupa o nono lugar na produgao de premio de seguro direto, dentre todos os raraos de se guro.
Os seguros aeronauticos sao concedidos atraves de tres tipos de apolices:
a) Apolice de Linha Regular de Navega^ao Aerea (L.R.N.A.), compreendendo os seguros de aeronaves pertencentes a empresas de L.R.N.A., inclusive passageiros (pax); e Respon:..bilidade Civil (R.C.);
b) Apolice de Taxi Aereo, compreendendo os seguros de aeronaves pertencentes a empresa de taxi aereo, inclusive pa.ssageiro,s, tripulantes e R.C.;
c) Apolice de Turismo e Treinamento, englobando os .seguros de todas
(*) Chefc da Divisilo Aeronauticos c Automovcis do I.R.B.
(Palestra proferida no Hstagio BSsico dc InvcstioacHO o Prcvini;no do Acidontcs Acrcinauticos, no Hstado-Maior da Aeronaiitica, em maio de 1969)
As coberturas sac concedidas atra ves das seguintes gacantias:
Titulo I — Casco, compreendendo a perda ou a avaria da aeronave;. sob cobertura integral (voo e rolamento e permanencia no solo) ou cobertura parcial (exclusivamente quando em permanencia no solo);
Titulo II — Responsabilidade Civil para com terceiros nao transportados (incluindo danos corporals ou materiais); no caso de aeronaves de LRNA oil Taxi Aereo trata-se da responsabi lidade extra-contratual;
Titulo III — Passageiros. compreen dendo OS danos pessoais sofridos pelos passageiros quando em voo, oti nas opera^bes de embarque ou desembarque; nos casos de Taxi Aereo ou Tu rismo e Trcinamento, tal cobertura podera ser estendida aos tripulantes.
A presence palestra rcstdnge-se ex clusivamente aos seguros de Cascos Aeronauticos (Titulo I das Apolices).
A garantia integral concedida pelo Titulo I das apolices, abrange, por-

tanto, as perdas on avarias sofridas pela aeronave quando em voo, rolamento ou permanencia no solo; trata-se, como vemos, de iima cobertura bastante ampla.
Os eventos nao cobertos ou riscos exciuidos constam de «clausulas especiais aplicaveis ao Titulo I». Cumpre destacar, dentre os riscos que mais preocupam aos seguradores, as operacoes cm campos nao homologados, sem condi^oes tecnicas niinimas de seguranqa.
II SEGUROS
O I.R.B. iniciou suas opera^oes no Ramo Aeronautico em 1943 objetivando. nao umti fonte adicional de receita, mas. acima de tudo, cooperar para o desenvolvimento da aeronautics civil, ciente de que, sendo o Brasil um pais de grandes dimensoes, o transporte aereo scria, como e, elemento funda mental na interliga^ao das regioes. exercendo papcl reievante para o de senvolvimento patrio.
O espanCoso incremento da aeronautica civil e comercial apos a Segunda Guerra tornava indispensavel a participa^ao do I.R.B. c do mercado segurador brasileiro que scmpre se fizeram presences,. «pari-passu», no acompanhamento da evolugao da economia nacional.
O Ramo Aeronautico, entretanto, scmpre se ressentiu de maior atratividade pelas Seguradoras Diretas, dadas as peculiaridades que o cercam: o vulto dos seguros e das indeniza^oes, a elevada especializa^ao de seguros e taxas. a instabilidade dos resultados, normalniente insatisfatorios. etc.
O QUADRO I, demonstra, a partir dc I95R, nno da implaiitagao do «Pool» Aeronautico no Brasil, a participai^ao das Seguradoras no Ramo. Sendo de
209 o nuniero total de seguradoras do mercado, apenas 7,7% operam diretamente no Ramo Aeronautico.
Ja o Ramo Incendio possui 88.6% de participantes e o Ramo Automoveis. 74-7%. Tais compara?6es demonscram a peqiiena receptividade do Ramo Aeronautico no mercado segurador nacional.
A recorrencia de resseguro ao mer cado exterior, atraves do I.R.B., sempre se fez nece-ssaria, dada a nobreza dos bens segurados, constituidos. cada vez mais. de aeronavcr, niaiores, dotadas de reqiiisitos tecnicos mais apurados e de grande valor, como sejam os Boeings (NCr$ 33.000.000.00). Caravelles (NCr$ 12.200.000,00). BAG ONE Eleven {NCr$ 12.400.000,00).
O QUADRO II demonstra a evolu^ao das opera^oes de seguros nos taltimos 4 anos, segundo as diferentes faixas em que estao distribuidos, percebendo-se a participaqao marcante do mercado externo.
Proximamente, com a entrada em trafego dos JUMBLES e dos Super Sonic Transport, como o Concord,, cujos valores sao bastante superiores aos das grandes aeronaves atuais, farse-a necessario o reequacionamento da problematica em todo o mundo, tornando o seguro, de modo mais agressivo, mais dependentc do mercado .segurador internacional.
Nao obstante, vem o I.R.B. trabaIhando arduamente para a soiu^ao dos problemas do Ramo Aeronautico, qtier fortalecendo o mercado interno, quer promovendo o desenvolvimento das opera;6es, quer adotando medidas capazes de niodificar a sinistralidade observada.
Quanto a capacidade retentiva do mercado, esta tem ,sido fortalecida nos ultimos anos, conduzindo a uma absor(jao maior dos negocios conforme se verifica do QUADRO III, comparado com 0 Quadro II. na parte relativa a premios internamente.
Francisco de A. C. de Avellar I — PREAMBULOA capacidade de retengao por risco. triplicou de 1964 para ca (Quadro III), concorrendo para uma reten^ao global de premio, em 1968 equivalente a cerca de 2,5 vezes a de 1965 (Quadro II, coluna 5).
A dinamiza^ao das opera?6es, com a conseqiiente ampliagao das Carteiras, ■e medida necessaria a penetra^ao do seguro em area ainda virgem, Segundo levantamentos estatisticos processados, cerca de 20% das aeronaves possuiam seguro de casco em 1968. Em 1967 tal percentagem andava em torno de 16%.
A dinamiza^ao das operagoes de se guro encontrara terreno fertil nas «Normas para Seguros Aeconauticos». trabalho ja aprovado pela Comissao Permanente Aeronauticos do I.R.B. e que devera entrar em vigor ainda no presente exercicio. Tais Normas congregam:
1) a primeira Tarifa de Seguros Aeronauticos do pais. obra pioncira no Ramo e que se reveste de grande importancia, pois permitira mais pronta angaria^ao dos seguros, ensejando a amplia?ao das Carteiras; hoje em dia o I.R.B. centraliza a taxa^ao, fornecendo taxa para cada aeronave de per si, mediante previa solicitaqao, o que significa pcsado encargo administrative;
2) OS modelos de apolice (unificando os atuais 3 tipos) e proposta padronizados, as condigoes gerais e especiais dos seguros, as coberturas basicas e adicionais, etc.
A simples angariagao de novos se guros concorrera, simultaneamente, pa ra 0 fortalecimento do mercado interne e para a melhoria dos resultados obtidos.
Ill — SINISTROS
As operagoes tgm apresentado resul tados irregulares e nao satisfatorios: pela comparagao de premios e sinistros constantes do Quadro II, pode-se perceber que a faixa do mercado interne e relativamcnte pior que a dos resseguradores do exterior.
Tal deve-se ao fato de que a pequena capacidade retentiva do pais obriga a uma participagao mais efetiva nos se guros de pequenas aeronaves. as quais se constituem. via de rcgra. nos piorcs riscos, pois alem de serem dotadas de requisites tecnicos, operam em condi goes mais adversas, com infra-estrutura inadequada, manutengao deficiente e, nao raro, utilizando campos nao homologados e, mesmo, sem condigoes tecnicas minimas de seguranga, come sao exemplos os campos de pouso de garimpos, locais de freqiientes sinistros com aeronaves seguradas.
O QUADRO IV apresenta a distribuigao das aeronaves por capitals segurados, percebendo-se que a moda situa-se na faixa de NCr$ 50.000,00 a NCr$ 100.000,00, portanto pequenas aeronaves nas quais a participagao percentual do mercado interno e maior do que nas aeronaves de maior porte.
Tal situagao leva o mercado interno a apresentar resultados mais insatisfatorios que os obtidos pelo exterior (Ver Quadro II colunas 5/6 e 7/8).
O coeficiente Sinistro/Premio do Ramo Aeronautico e dos mais elevados, apresentando-se, em algumas oportunidades, superior a 100% na faixa do Seguro Direto e na do Mercado Interno. verificaram-se coeficiente S/P su perior a 100% de 1965 para ca (ver Quadro H) .
Nao obstante, o I.R.B, vem emprestando cuidadosa atengao a evolugao dos fates, procurando corrigir as anomalias que se verificam, atraves de medidas que podem assim ser sintetizadas;
a) Maior selegao na aceitagao dos riscos, recomendando-se a previa inspegao das aeronaves; a rigorosa seletividade foi, inclusive, recentemente aprovada cm Tese proposta a VI® Conferencia Brasiieira de Seguros, realizada em Curitiba em 1968;
b) Adogao de franquias mais elevadas para segurados sem previa experiencia anterior, ou para aqueles cujas experiencias assim o determine; tais franquias, de 5 ou 10% ou, mesmo. maiores sao deduziveis das indenizagoes cabiveis.
c) Aplicagao de franquias adicio nais as indicadas na alinea fc ), no caso de sinistros ocorridos em campos de pouso nao homologados; esta partici pagao dos segurados nos sinistros ensejara maiores responsabilidades indi viduals, com maior vigilancia dos proprietarios de aeronaves, permitindo o estabelecimento de condigoes tendentes a melhorar os resultados da faixa retida pelo mercado segurador nacional.
d) Elaboragao de lista de aerona ves e de segurados cujos seguros devam sec recusados; no primeiro caso, por se tratar de aeronaves obsoletas, sem representagao no pais e sem pegas para substituigao; cujos sinistros comumente se transformam em perdas totais construtivas; no segundo caso, por se tratar de pessoas cujas experiencias anteriores recomendcm tal medida extrema (inidoneidade, pessima experiencia resultante das condigoes operacionais, infraestrutura deficiente, etc.).
e) Novo criterio para avaliagao de aeronaves, com base no prego medio do mercado norte-americano, corrigido pela aplicagao de um fator que objetiva considerar as despesas com a importagao de aeronaves ou de pegas.
fiste criterio. embora sujcito a distorgoes em alguns casos concretos, evita a super-avaliagao cnpaz de conduzdr a inicdencia de sinistros nao aleatorios.
IV — LIQUIDACAO DE SINISTROS
O I.R.B. tem devotado especial atengao as liquidagoes de sinistros aero nauticos. procurando cercar o estudo do evento do indispensavel cuidado t-ecnico. sem, entretanto, descurar-se da rapida tramitagao do processo para seu julgamento final.
Nas liquidagoes de sinistros procurase observar um cronograma pre-estabelecido, com o objetivo de imprimir as regulagoes um ritmo acelerado, sem prejuizo da boa tecnica; assim, dentro da tonica da dinamizagao, foram as Seguradoras instruidas para que comunicassem os sinistros ao I.R.B. pelo
meio mais rapido disponivel, possibilitanto ao I.R.B. destacar um perito para atender ao imediato levantamento das avarias. O cronograma funciona como padrao a partir dessa comunicagao.
O volume de sinistros comunicados ao I.R.B. tem crescido continuamente, assoberbado o Setor de Liquidagao; em 1968 foram avisados ao I.R.B. 151 sinistros, dos quais 26 foram encerrados sem indenizagao, seja por nao terem cobertura, seja por nao atingirem OS prejuizos a franquia contratual.
O maior sinistro na aviagao brasiiei ra ocorreu em 7 de setembro de 1968, quando a aeronave PP—VJR, um Boaeing 707/320 incendiou-se no han gar, determinando uma indenizagao global equivalente a US$ 8.300.000,00, dos quais mais de 90% foram pagos pelos resseguradores do exterior.
V — PROBLEMAS
Os problemas que afligem o Ramo Aeronauticos foram relatados. de maneira esparsa, nos incisos anteriores.
Vamos, aqui, sintetizar esses proble mas que estao ligados aos resultados insatisfatorios que vem sendo obtidos.
a) A expansao das Carteiras de Seguros com maior dinamizagao das operagoes e necessaria a fim de permitir a penetragao -do" seguro em areas virgens; essa expansao, conduzindo a uma ecleticidade maior de segurados. concorrera para o maior equilibrio da Carteira, ensejando a obtcngao de re sultados melhores.
b) A ocorrcncia de sinistros nao alcatorios ou com informagoes falsas foi constatada pelo I.R.B. O QUA DRO V e o grafico anexo apresentam a distribuigao de freqiiencia de sinis tros ocorridos em 1967 e em parte de 1968.
Verifica-se pela coluna (5) do Qua dro que a freqiiencia de sinistros no primeiro mes de vigencia do seguro c de 19,1%, representando um acentuado desvio da media (8,3%), caracterizando uma configuragao nao aleatoria na distribuigao.

Quanto aos sinistros fraudulentos. sua tendencia a diminuir decorre do novo criterio de avaliacjao de aeronaves, criterio essc mais rigido e que. em alguns casos, resulta em valor menor que o prego de mercado brasiJeiro, evitando-se o interesse na obtengao de lucro com a realizagao do sinistro.
Quanto a infomagoes incorretas, cstas geralmente dizem respeito a data da.ocociencia ou as circunstancias que cercaram o acidente; a data de iim si nistro ocorrido no interior do pais, so e perfeitamente conhecida algumas ve2es pelo piloto ou pelo proprietario da aeronave; desse fate pode-se valer o Segurado para procurar obter cobertura do Seguro e, posteriorraente, informar que sen aviao acidentou-se alguns dias apos.
Recentemente o I.R.B. conseguiu comprovar tal artificio, valendo-se de informa^oes obtidas na FAB.
A yistoria previa e a medida sancadora indicada para a sele^ao de riscos, evitando-se casos como o configurado. O em circular recentemente expcdida ao mercado, recomendou a observancia da previa vistoria de aero naves, o que e primordial no caso de novos seguros.
c) Verifica-se uma grande incidencia de sinistros em campos nao homologados; de acordo com as Condi(;6es da Apolice, a cobertura nao subsistiria caso o referido campo nao apresentassc, na ocasiao do acidente, condi^oes tccnicas minimas de seguram^a para ope rates de aeronave do tipo da eventualmente acidentada.
Entretanto, ha uma grande subjetivi- dade na precisn configuragao da auscncia de coiulig)c.s tccnicas minimas de seguranga, o que concorre iuir.i uma quusc total aceitagao dos sinistros all ocorridos, para fins de cobertura do se guro.
Nao raro, por outro laclo, os pilotos alegam «pane» da aeronave o que Ihcs garante cobertura. Urn laudo mais obietivo do SIPAER apontando as condigoes do campo permitiria melhor eqiiacionamento do problema em cau sa
d) -Algumas vezes, por outro lado, encontram os peritos dificuldade de acesso aos trabalhos de investigates, levadas a efeito pelas Zonas Aereas, nos quais poderiam obter valiosos subsidios para o estudo do evento.
Como o processamento das liquidagoes de sinistros desenvolvem-se em ritmo acelerado, faz-se mister o conhecimento iraediato de informagoes mesmo no curso das investigagoes e. portanto, antes de suas conclusoes finais.

O acesso livre do perito aos refeiidos trabalhos permitiria uma conjugagao de csforgos mais harmonica entre I.R.B. e Autoridades Acronauticas, com pro-: veito geral.
VI — COOPERAgAO COM AS AUTORIDADES AERONAUTICAS
Tern o I.R.B. e as Autoridades da FAB fcrabalhado em estreita cooperagao: em particular, os contatos com o SIPAER vem-se amiudando, desenvolvendo-se os trabalhos em perfeita harmonia. Essa cooperagao miitua pode ser apreciada nos seguintes pontos:
1) Fornecimcnto de informagoes pelo I.R.B.. quando solicitado, atraves de seus peritos, aos Oficiais Investigadorcs, com cessao, inclusive, de fotografias;
2) Apoio irrestrito do I R B as conclusoes do SIPAER,dando-lhe pres'tigio, fazendo inserir nos recibos o condicionamento aos resultados da investigugao instaurada. Tal fato reveste o loiido do invcstigador de uma importancia maior.
3)^ Coleta de dado.s na DAC c obtcngao de informagoes tccnicas noSIPAHR (qitiiiKlu li£j duvida.s ou cujscnch dc cieinenlos) tai.s como vinciilos hipoleccirios que gravem a aeronave. certificados de vistoria e navegabilidade, propriedadc da aeronave, .segundo o RAB, pianos de voo, etc.
Nao ob.stante a cooperagao ja evistente. cumpre tornar mais harmonicos OS trabalhos e se obter ainda maior en-^ trosaraento entre os importantes Or-, gaos.
CAPACIDAOE RETENTIVA CO EXCEDENTE I'/NICO AERONAUTICOS CASCOS AERON^UTICOS (Por risco)
DISTRIBUICAO FOR FREQOeNCIA DOS CAPITAIS SEGURADOS

"taxi aereo" e"turismo e treinamento"
de 1967 e ports de 1968
DISTRIBUICAO DE FREQUfiNCIA DE SINISTRGS PGR QUINZFNA DE SFGURO
E
E
0 smLstro aerondullco: conitngencia e prei>LSLhUidade
Diz o Codigo Civil, em seu artigo ].432, que «Considera-se contrato de seguro aquele pelo qua) uma das partes se obdga para com a outra, mediante a paga de um premio, a indcniza-la do prejiiizo resultante de riscos futures, previstos no contrato».
fi. pois, de acordo com a melhor doutrina, um contrato bilateral, oneroso, consensual e aleatorio, significando esta ultima expressao que^ muito embora seja certa uma das presta^oes — o premio —, a outra — a indeniza^ao dependera da ocorrencia do sinistro, sendo, assim, essa caracteristica, a incerteza do fato, elemento fundamental do contrato,
No seguro aeronautico, temos o interesse segurado, isto e, aquele dependente da navega^ao aerea, per cujos riscos, aqueles a ela imanentes. paga o Segurado um determinado premio, para que, na eventualidade de um sinistro,
( ) Liquidador de Sinistros da DivisSo Aeronauticos e Automoveis do IRB, (Palestra proferida no Estagio Basico de Investigaclo e Preven^ao de Acidentes Aero nauticos, no Estado-Maior da AeronSutica, ein maio de 1969) ,

venha a se ressarcir dos prejuizos que tiver.
fisses riscos da navega(;ao aerea acham-se relacionados no contrato. cujo instrumento e a apolice, a qua!, tambem. estabelece sanies para o caso do use indevido do ohjeto segurado, em nosso caso a aeronave.
Queremos, aqui, ressaltar o elemento aleatorio ao contrato: a incertcza do si nistro, sua, confingencia, sua imponderabilidade,
' Se 6 risco for certo ou, pelo raenos, provavel. alera do que juste seria prever, entaq deixa o contrato de atender a seus oSjetivos precipuos, representando essa certeza do risco, ou sua agrava^ao — neste caso, sem previa anuencia dos seguradores —, causa suficiente para que o Segurado venha a perder o direito a indeniza^ao, em caso de si nistro,
fisse ligeiro preambulo se fazia necessario, muito embora pretendamos fugir as aprecia^oes teoricas, nos atendo, exclusivamente, ao aspectb pratico da questao do seguro aeronautico. na parte que nos compete: o sinistro e sua previsibilidade.
Anualmente, nos defrontamos com duas gamas distintas de sinistros: aqueles que definimos de contingentes, OS que ocorrem inexoravelmente, nao obstante todas as precaugoes tomadas no que concerne a scguranga de voo, e quando homem. maquina e mcio se tenham complctado em um todo para a operagao; os outros, estes sao os prci'isii'eis, aqueles em graii de probabilidade tal que, por parado.xal que parega, sua uao ocorrencia chega a nos surpreender.
Esta,' porem, e a realidade, da qua! nao poderemos fugir, pelo menos a curto prazo, por for^a de nossa vastidao territorial e dos precarios mcios de coinunicagao que tornam a aviaqao, em extensas areas do nosso territorio, o unico transporte exequivel, aquele do gua] dependemos para que essas imensas regioes venham a incorporar-se, definitivamente, ao todo nacional.
Come(;aremos pelos sinistros que classificamos de
CONTINGENTES
Em nossa vivencia de longos anos com o seguro aeronautico, aprendemos que a falha humana, direta, tern sido responsavel por mais de 70% dos aci dentes de avia^ao cm todo o mundo.
Se considerarmos' OS fatores infraestruturais, isto e, os indiretos, podere mos facilmente adraitir o erro como cau sa de aproximadamente 90% dos sinis tros, o que nos deixa, sdmente, 10% para atender as causas fortuitas, ou sejam, aquelas em que o homom nao participa como fator contribuinte.
Quantas vezes, embora se nos afigure fortuito o acidente, este nao teria por causa a falha humana nos servigos infra-estruturais?
A slei» de Murphy, surgindo em toda a sua potencialidade, fazendo com
que um elemento de manutengao, na maioria das vezes. experimentado e habil, venha a cometer um erro, o qual, passado despercebido na inspeqao, conduza, apos algumas horas de voo, a uma tragedia aerea, cujas causas poderao permanccer desconhecidas, por ausencia total de elementos que levem as autoridades a determina-las com precisao,
Entao, dir-se-a. simplesmente que «a bruxa anda a solta», ou, entao, que o comandante subestimou a maquina, por se julgar um «as» da aviagao.
Conjecturas sao formuladas, porem, perdem-se no tempo, e aquele acidente sera laconicamente catalogado entre OS de «causa indeterminada» ou, quan do muito aventa-se provaveis causas, amiude sem convicgao de quern as for mula ,
£ste e um problema mundial, e a «lei» de Murphy, como ■i. conhecida nos Estados Unidos, tern sido apontada como responsavel por inumeros aciden tes, sem falarmos nos «quase-acidentes» que, nao se concretizando, unicamentc, pela destreza do piloto, possibilitani o exame detalhado da aeronave e a constatagao da falha humana a que nos rcferimos:
«Se alguma pcga da aeronave puder ser instalada incorretamente, sempre havera alguem que assim o fara» — («lei de Murphy»)
Todos OS mecanicos conhecem os ris cos da descarga estatica; de seu aprendizado constam, necessariamente, ensinamentos de como evitar a fonte permanente de perigo que e a eletricidade estatica. Sabcm que uma pcquena centelha poder.a determinar um incendio de grandes proporgoes, destruindo valioso equipamento e expondo a perigo suas proprias vidas.
Entretanto, embora a doutrina?ao tenha-se feito presente em todos os estagios de sen aprendizado, e as companhias de petroleo nao se cansem de pu blican folhetos sobre a materia, os «acidentes» sucedem-se em escala assustadora,
Sabemos que os riscos da eletricidade estatica estarao completamente eliminados se as precaugoes devidas forem tomadas antes e per ocasiao dos reabastecimentos.
Todavia, a omissao culposa, tomada, muita vez e indevidamente, por simples inadvertencia — eufemismo que devemos evitar em beneficio dos preceitos de seguran?a —, mais e mais coopera para que os acidentes ocorram, em incidencia quase alarmante e intoleravel na tecnologia moderna.
Recentementc, um mecanico de uma empresa nacional, ao pretender lavar o filtro de oleo, que retirara do motor com gasolina drenada do proprio tanque da aeronave, quase determinou a destruigao total do equipamento, nao fora a presteza com que agiram seus companheiros.
Uma dcscarga estatica — e esta e a explica^ao mais plausivel —, produzida entre o corpo do mecanico e a estrutura, gerou uma centelha suficientemente forte para inflamar o corabustivel que se encontrava no filtro, dentro dos limites de explosividade conhecidos,
No ano passado, uma aeronave de 8 milhoes de dolares foi completamente consumida pelo fogo, per ocasiao da recarga de seu sistema de oxigenio.
A causa apontada foi a combustao intema de uma das garrafas, todavia. nao e para ser desprezada a hipotese de o acidente ter sido conseqiiencia de rapida e violenta oxidacao de certa quantidade de graxa, deixada per inad
vertencia junto as conexoes, as quais. mal ajustadas, teriam permitido o escapamento do gas sob alta pressao.
Nao queremos nos alongar demasiadamente em nossa palestra, citando exemplos de ocorrencias cujas causas sao por demais conhecidas dos senhores; entretanto, faz-se mister que sejam relembradas, como advertencia ao muito que devera ser feito visando a preven^ao de acidentes.
Por certo, hao de se recordar de um acidente ocorrido em mar?o de 1968. nas proximidades do aeroporto de Congonhas, Sao Paulo, no qual dois grandes nomes da aviagao comercial brasileira foram sacrificados.
Refiro-me a pane seca resiiltante do sifonamcnto do tanque de combustivei. que, per ocasiao da descolagem em SBRJ, continha cerca de 100 galoes, o suficiente, portanto, no equipamento em causa, para uma autonomia de 4 floras.
Todavia, a tampa do tanque — unico existente no tipo —, embora houvesse sido recolocada em posi^ao, nao fora travada, soltando-se em voo. face a conjugagao de dois fatores; trepidagao e pressao interna do combustivei.
Durante todo o percurso, certos da disponibilidade de gasolina, os pilofos — que juntos somavam mais de 30 mil hpras de voo —, nao teriam dado importancia a marca^ao do liquidometro — tanque cheio — limitando-se a desliga-lo.
Enquanto isto. o sifonamento ocorria, ao ponto de esgotar completamente o tanque. levando a aeronave a um pouso de emergencia, de tao funestas conseqiiencias.
Brilhante trabalho foi, entao, realizado pela 4' Zona Acrea, que. atraves da CIPAA sob sua jurisdigao, realizou im-
portante investigaqao, trazendo a luz elementos valiosos ao programa de prevengao de acidentes.
Os pilotos conhecem, sobejamente, o risco que representa a partida manual do motor, iitilizando a helice como meio propulsor. Embora nao sejam poucos OS acidentes que dessa operaqao decorrem, os mais experimentados continuam a realiz'ii-la, muitas vezes com risco da propria vida.
Recentemente, em Sao Paulo, por pouco nao tivemos uma tragedia de grandes propor^oes, quando uma pequena aeronave, durante essa operagao, movimentou-se em diregao a um han gar. quase o invadindo. Foi alcan^ada a tempo pelo proprio piloto. mas, raesmo assim, veio colidir com duas outras aeronaves, causando a uma delas prejuizos superiores a 20 mil cruzeiros novos-
Contam-se as centenas os sinistros que poderiam ter sido evitados, fdssem tomadas as devidas precau^oes e obedecidas as margens minimas de seguran^a.
Mas, ainda que pudcssem ser evita dos, esses sinistros. em sua grande maioria, pertenciam a categoria daqueles que deviam receber — e, realmente, receberam — o amparo do seguro, pois, para os riscos imanentes a atividade aerea — e. obviamente. deles nao se poderia excluir a falha humana — firmou-se o contrato.
Porem, o que nos preocupa sao aqueles «acidentes», aos quais nos referimos, no inicio de nossa palestra, embora um tanto impropriamente, chamados de
PREVISIVEIS
fistes ocorrem em incidencia alar mante e tem, no triedro homem. maquina, meio, este ultimo como fator preponderante.
Referimo-nos, principalmente, aqueles que ocoirem na extensa e ainda inospita floresta amazonica, que ocupa cerca de 2,5 milhoes de Km*, da area total de 3,5 milhoes da regiao Norte ou Amazonica.
Se a ela acrcscentarmos a parte do territorio de Mato Grosso, banhada, tambem. pela bacia amazonica, a hileia, com suas riquezas minerals, magnificente fauna e exuberante flora, atinge area superior aos 4 milhoes de quilometros quadrados, portanto, quase a metade do territorio nacional.
O Amazonas, com seus grandes tributarios. seus afluentes diretos e secundarios c. ainda, a colossal seqiiencia de lagos, proporciona o transporte por navios de grande calado em mais da metade de sua bacia.
Por outro lado, a construqao de rodovias prioritarias. a Belem/Brasilia, Cuiaba/Porto Velho, Porto Velho/Rio Branco e Porto Vclho/Manaus, repre senta um passo gigantesco no rumo da integragao definitiva da regiao ao complexo nacional.
Entretanto.' a ai'ia^ao cabe ainda, e cabera por muitos anos, o papel preponderantc ao desenvolvimento daquelas areas imensas, fontes inesgotaveis de materia-prima. semprc exploradas com objetivos mercantilistas.
Dela, avia^ao, depende o apoio as areas extrativistas, minerais e vegetais. as primeiras. representadas pelo ouro. diamante, cassiterita, tantalita, manganes etc.; as segundas, pela borracha, batata, castanha, oleos essenciais, ma deira etc.
E, entao, comegam a surgir os «campos de pousos dos garimpos, das minera?6es e das areas de cultivo, que se espalham em determinadas regioes da hileia, atraindo centenas de homens

avidos de riqueza, esquecidos de que, por ela, poderao pagar aUo pre?o.
Os proprietarios e pilotos de pequenas aeronaves, tao logo sao abertas as pequenas pistas, deixam suas bases c iniciam as operagoes em ritrao quase re gular, num vaivem constante, eis que a remuneragao e aitamente compensadora.
Na constru^ao das pistas nao se cogita de topografia, geotecnica ou mesmo anemografia. Quatrocentos me tres de comprimento e dez de largura — pensam eles — sao suficientes para propiciar uma operagao razoavel; alem do mais, o risco de acidente e compensado financeiramente e, na sua eventiialidade.
O seguro ai esta para ressarci-los dos prejuizos.
Surgem, assim, os campos, inclinados Jateralmente em alguns trechos, com declives longitudinals acentuados. piso ir regular devido a falta de compactagao, crosao, deficiencia de drenagem etc. Nao se obedece aos requisites minimos de seguranga e a alta e densa vegetagao difictilta ainda mais a operagao,
Destarte, os acidentcs sucedem-se, com perda de equipamento valioso e a conseqiientc dispersao de divisas,
Muita vez, a pista, construida com cerca de dOOra, so e utilizavel, e assim mesmo prccariamente, em menos de 300m, sucedendo-se, entao, os pousos curtos, convite constante ao acidente.
Vejamos a regiao do rio Tapajos. Os garimpos de ouro multiplicam-se na zona de Jacareacanga, as margens do Crepori, no Jamanchim..
Para nos, do Seguro. existe um garimpo tristemente celebre pela seqiiencia de acidentes que ali ocorriam: o de Sao Domingos, ou Jose Alves, como e mais conliecido.
Situado nas cercanias do rio Jaman chim, distante cerca dc 500 Km de Santarem, no rumo de 195", trouxe-nos al guns problemas.
Nossos peritos constantemente viajavam ao local para proceder h inspegao de aeronaves ali acidentadas.
Apertamos as cravelhas; se nao fossem tomadas medidas tendentes a meIhorar o estado da pista, os acidentes ali occrridos nao mais teriam cobertura.
Os pilotos reuniram-se: em conseqiiencia, o «dono» da pista foi compelido a melhora-la, pois, case contrario, as opcragoes seriam suspensas.
6 verdade que seria tranquilo, para nos, a simples recusa de cobertura para OS acidentes ali occrridos: desde que a pista nao oferega condigoes minimas para a operagao da aeronave do tipo sinistrado, as condigoes da apolicc facultam-nos esse direito.
Entretanto, caberia indagar:
— Estariamos scndo justos adotando, indiscriminadamente, a recusa? Poderiamos, em sa consciencia, permitir que centenas de garimpeircs fossem abandonados a mingua nas inospitas areas extrativistas? Nao iriamos, assim agindo, restringir o desenvolvimcnto socioeconomico daquelas regioes?
Embora exista, em certas zonas, o reciirso do transporte por via fluvial e. mais recentemente, com a construgao de estradas prioritarias, do rodoviario, enquanto o primeiro torna-se quase impraticavel, por representar longos dias de viagem as cidades e vilas mais proximas e, o segundo, somentc exeqiiivel em areas determinadas, o aviao, em poucas horas, cumpre sua missao, levando para o garimpo e zonas de mineragao os meios de subsistencia necessa ries e de la trazendo o produto da extragao.
As areas extrativistas, minerals e vegetais, avolumam-se. mormente as ulti mas, sendo que a extragao do ouro e feita principalmentc no medic Tapajos. no Gurupi, no Jari etc; o diamante, no rerritorio de Roraima, em Maraba e. ainda, ao noroeste de Mato Grosso. Em Rondonia, a expJoragao de cassiterita, ou minerio de estanho, contribui decislvamente para a integragao dcfinitiva do territorio a economia nacional .
Todavia, faz-se mister que essa exploragao seja piancjada e equacionada em seus devidos termos, sustando-se a corrida desenfreada de aventureiros as fontes de materia-prima, animados. tao-somente, do firme proposito de altos,e
iniediatos lucros. £ste. porem, e um problema que, embora nos afete diretamentc pelas implicagoes que dele decorrem, foge aos objetivos precipuos de nossa palestra.
E, assim. surgem novos campos; uma duzia na regiao do Tapajos; outio tanto na Amazonia meridional, comprccndcndo o Territorio de Rondonia e certas areas ao noroeste de Mato Grosso, oiitros, ainda, no Estado do Para, a margem esquerda do rio Amazonas, na I'egiao de Aienquer e, finalmente, al guns na periferia de Maraba, no apoio a cuitiira da castanha, Alguns era con digoes regulares, porem, a grande niaioria carente dos requisites minimos indispensaveis a uma operagao satisfatoria.
E, qual seria a solugao a curto prazo para o problema?
A integragao definitiva da regiao. no estagio em que se encontra, e irreversivel; necessita, porem, de infra-estruli'ra adequada, de uma vasta rede de campos de pouso, nao so para auxiliar ^ processo de seu proprio desenvolviniento, mas, ainda, como apoio a aviatao miiitar c civil.
Merece destaque o trabalho que, nesse scntido. vcm sendo executado pela Comissao de Aeroportos da Re giao Amazonica (COMARA). En tretanto, muito esta para ser feito e, em nosso entender, nao se podcra prescindir da iniciativa privada nesse gigantesco empreendimento, sempre, obviamenfe, sob a supervisao do poder publico.
A construgao de pistas particulares nas areas extrativistas tcnde a proliferar, como conseqiiencia logica ao fluxo i.le desenvolvimento.
Assim, deveriamos, ate, estimular essa atividade e, atraves de dispositivos regulamentares, condiciona-la a normas tecnicas rlgidas, suscetiveis dc gerar condigoes satisfatorias de operacionalidade.
Vejamos:
Sabemos que um Beech Bonanza ne cessita de 300m de pista para a descolagem; requer, todavia, cerca de 400 <io seu peso maximo — a fim de ultrapassar um obstaculo de 15m, isto levan-
do em. conta o bom,estado de piso em toda a extensao da pista.
Para esse equipamento, pensamcs nos, seriam necessaries 600m, pois ha a considerar o trecho necessario (stop way) para o case de uma decolagem descontinuada.
Um Cessna Skyhawk 172 precisa de 270m, porem, 470 para ultrapassar o mesmo obstaculo de 15m.
Tomando-se essas duas aeronaves per modeio, facil sera concluir-se que, cm nonhuma hipotcss, devera ser permitido comprimento inferior aquela medida a que nos referimos, isto e, 600m.
No que se refere a largura, 15m poderiam ser admitidos — embora como medida ideal consideremos 20 —,desdc qiic, em cada lateral a area livre seja. tamfaem. de 15,
Assim, teriamos um vao livre de 45, nao obstante sercm utilizaveis apenas 15.

O desmatamento as cabeceiras deveria atingir de 250 a 300m, evitando-se, com isto, OS pousos longos e as descolagens «forgadas».
Curapridas as exigencias quanto aos minimos operacionais, as pistas seriam liberadas ao trafego, scndo que sua conservagao ficaria afeta ao construtor que, em bom estado deveria mante-las, sob pena de interdigao definitiva,
Posto o problema ncsses termos, em caso de acidente caberia aos senhorcs — oficiais investigadores — informar de imediato ao SIPAER, sobre o esta do da pista, da forma mais simples e pfatica possivel, isto e:
— o campo de pouso aprescnCava as condigoes minimas de seguranga para a operagao de aeronave do tipo da sinistrada;
— o campo de pouso nao apresentava.. ,
Nesse ultimo caso, poderiamos sustar 0 pagamento da indenizaqao, per infringencia de condigSo contratual, pelo menos ate que fosse concluida a investigagao sobre o acidente, e apuradas suas causas.
Assim agindo, acrcditamos, estaria mos contribuindo decisivamente para o
objetivo comum que nos anima: a seguran^a do voo.
Clare esta que, em nossos 8.5 miIhoes de quilometros, nao ha come restringir a atividade aeronautica, exclusivamente, aos campos homologados; devemos, isto sim, limita-Ia aos cadastrados pela Diretoria de Aeronautica Ci vil. respeitadas as normas tecnicas a respeito, abrangendo, assim, tambem os localizados nas areas a que nos referimos.
Tomemos um exemplo: de 1.050 aerodromos sob jurisdigao da 4* Zona Aerea. apenas 20% sao homologados: OS demais, simplesmente cadastrados.
Se limitassemos a operagao de aeronaves aos primeiros. haveria, per certo, um retraimento dos operadores, com reflexos acentuados e negativos em nossa cconomia.
Alem do mais quando se procura «promover a expansao do mercado de seguros e propiciar condigoes opcracionais necessarias para sua integragao no processo economico e social do Pais» (art. 5'' inciso I, do Decreto-lei m 73, de 21-11-66), a restrigao chegaria a ser iniqua e, ate, contraria aos interesses nacionais,
Ja na feliz expressao dos autores Franceses anteriores ao Codigo de Napoleao, OS seguradores desempenham a fungao de verdadeiros «marchands de securitc» pois, ao assumirem onerosamente os riscos alheios, corrigera os efeitos negativos do acaso.
A alea, o evento casual, a incerteza e que leva segurador e segurado ao contrato de garantia. de indenizagao dos prejuizos futuros. fi precise, portanto. que a agrava^ao do risco pela utilizacao da aeronave em campos nao homologados nao importe em prcvisibilidade de sinistro.
Para o problema das areas extrativistas, talvez a solugao mais racional — e economica — fosse a utilizagao de pistas portateis, de aluminio.
Sabemos que os campos surgem a medida que novas jazidas sao descobertas, Quando decresce a extragao, outras areas sao procuradas. e um determinado campo podera ser abandona-
do, para que outro seja construido em ponto raelhor situado.
Uma firma americana, a Harvey Aluminium Inc.. recentemente desenvolveii uma pista portatil, feita de chapas de aluminio, conhecidas per AM-2. pista esta capaz de suportar as mais rapidas e pesadas aeronaves.
O fabricante informa que o transporte das chapas podera ser feito por via aerea, para as «mais remotas regioes do mundo», sendo necessarias, apenas, 72 horas para a instala^ao.
Embora possa parecer utopica a ideia. nao custa consigna-la; aos tecnicos no assunto cabera a tarefa de analisar sua viabilidade.
Ja nos alongamos demasiadamente em nossa palestra que, possivelmente, a esta ahura se torna cansativa, por abordar problemas por demais conhecidos dos senhores.
Pretendemos. todavia, ressaltar a necessidade de um mnior entendimento entre os diversos orgaos do SIPAER e o nosso setor especializado em sinistros aeronauticos, o qual, se bem que modestamcnte, procura realizar, tambem, um trabalho serio e objetivo.
Nossos peritos — e, esporadicamente, ate este que ihes fala — deslocamse constantemente para as regioes mais afastadas e inospitas de nosso vasto territbrio, utilizando por transporte desde o aviao ate a montaria, inciuindo lanchas e canoas,
Sera precise que as investiga^oes de acidentes se processem cm ritmo de miitua coopera^ao, a fim de que o Seguro possa atender suas finaiidades precipuas, sem correr o risco de tornar-se veiculo de interesses escusos.
Algum sucesso temos conseguido com nossas proprias investigacoes; to davia, nao poderemos, 6 obvio, prescindir do trabalho dos senhores, que por suas atribui(;6es, estarao aptos a trazer a luz elementos preciosos para a elucidagao de acidentes e apontar eventuais indicios de atos dolosos — embora esta nao seja a missao primacial do SIPAER —, para que a repressao, nesses casos. seja uma conseqiiencia logica, legal, e nao inbcua.
A Sub-Rogagao Legal em Favor
do Segurador no Transporte Terrestre
SUMARIO: Transporte maritimo. Artigo 728 do Cod. Comcrcial. Trans porte terrestre. Art. 985. III, do Codigo Civil. Doiitrina tradicional Conclusao.
1. Constitui questao de grande interesse saber sc o segurador que paga 'ndenizagao ao segurado, se siib-roga nos direitos que a este caberiam para, eventualmente, promover as a^oes cabivcis contra o responsavel pelo dano ou prejuizn. Em outras palavras, consiste o problema em saber se o segurador. paga a indenizacao. tern direito re gressive contra o causador do dano.
2. Ha quem sustente a tese de que, no Direito brasileiro atual. nao se reconhece essa modalidade de sub-roga?ao legal, quando se trata de seguro contra os riscos do transporte terres tre (1).
3. Para o transporte maritimo a sub-roga^ao legal e expressamente admitida pelo art. 728 do Cod. Comercial. fi precise, pois, verificar se esse dispo sitive legal tambem se aplica, por analogia, ao transporte terrestre, ou se dita sub-rogaqao esta contida entre os casos enumerados pelo art. 985, III, do Co digo Civil.
4. A doutrina tradicional era manifestamente contraria a sub-roga(;ao do
{*) Advogado em Porto Alegre.
(1) «REVISTA FORENSE». vol. 147-38, MOACIR LCBO DA COSTA.
segurador, quando sc tratava de segu ro contra riscos do transporte terres tre. Os argumentos se resuraiam no seguinte como bem cniincia M. M. SERPA LOPES: (2) a) a responsabilidade assenta no prejuizo, mas este estava desaparecido, em vista do pagamento da indenizaqao: b) o seguro e um contrato eminentemente ressarcitorio, de modo que o segurado nada mais pode recebcr excedente no quantum do pre juizo. Alem disso, se considerava a sub-rogaqao incompativcl com a natureza completamente aleatdria do contrato de seguro.
O insigne M. I. CARVALHO DE MENDONgA (3) parecc inclinar-se contra a sub-rogagao do segurador, alegando que «o beneficio da sub-rogagao iegal e reservado para aquele que paga divide de oiitrem por isso ser obrigado ou interessado na solugao. Ora, o se gurador, nao paga divide de outrem, paga divida pr6pria». Admite, porem, a «cessao da agao do segurado pago do sinistro contra terceiro em favor do se gurador; mas essa cessao e sempre a titulo gratuito, porque aquilo que o se gurado recebeu do segurador pelo sinis tro e a contra-prestagao dos premios pagos».
(2) SERPA LOPES, «Curso de Direito Ci vil Brasileiros, ed. de 1958. vol. 4", pSg, 394.
3) M. 1. CARVALHO DE MENDONCA. «Contratos>, vol. 11 pags 310 c segs., ed, de 1911.

5. Atuaimente, autores de renome no cenario juridico nacional, e copiosa jurisprudencia dos mais diversos tribu nals. admitem a sub-roga^ao do segurador mesmo quando se trata de seguro contra riscos do transporte terrestre.
E esse ponto de vista e confortado com invocagoes aos arts. 985, III e 1 .d24 do Cod. Civil, e 728 do Cod. Comercial, aplicavel por analogia (c<REVISTA FORENSE», 127-447 — voto do Min. DJALMA MELO) ao seguro contra riscos no transporte terrestre.' As manife"sta?oes da doutrina, nesse sentido, nao sao isoladas nein recentes; de longa data vem sendo defendida a sub-rogagao do segurador no transpor te terrestre, ponto de vista esse que hoje pode ser considerado firmemente estabel'ecido.
«A sub-rogagao dos direitos e agoes do segurado na pessoa do segurador que paga um dano acontecido a coisa segurada se opera de pleno jure, nos termos do nosso Cod. Civil, que, embora na parte relativa ao scguro tivesse silenciado a respeito, a estabelece, todavia, em seus arts. 985, n'' 3, c 1.524. O nosso Cod. Comercial prescreve essa sub-rogagao claramente tambem em seu art. 728,
«0 principio da sub-rogagao dimana da propria natureza do contrato; e uma conseqiiencia natural do pagamento, por isso que se o segurado conservasse consigo o direito de agao contra o terce-ro, receberia diias vezes a indenizagao, Por outro lado, esse terceiro nao se poderia aproveitar do contrato de seguro, a que era estranho e pelo qual nao pagou premio algum. A nossa jurisprudencia tern decidido que a sub-rogacao se opera pelo simples pagamento do dano, e nao necessita para sua prova senao do simples recibo dessc pagamento, nao estando sujeito, pois, a formalidade alguma especial. O segu rador, entretanto. nao podera e.xigir do terceiro culpado mais do que a quantia que pagou, isto e, so se podera valer do direito do segurado ate o limite necessario para recuperar a importancia paga. Se cobrir uma so parte do risco, licara sub-rogado na proporgao do que indenizoii; e, mesmo, havendo uma li-
quidagao amigavcl, e obtendo uma redugao», (4)
«0 ferceiro responsive!c a sub-roga gao do segurador — O problema consi.ste em saber se o segurador, pago o sinistro, tern direito regressive contra c causador do dano. A doutrina tradicional, manifestamente contraria nao so a acumulagao. como a qualquer agao do segurador visando reembolsar-se da indenizagao, manteve-se largo tempo em oposigao a qualquer transigencia nesse particular, Os argurnentos se rcsumem no seguintc; a) a responsabilidade assenta no prejuizo. mas este estava desaparecido, em vista do pagamento da indenizagao; b) o seguro e um contra to eminentemente ressarcitorio, de modo que o segurado nada mais pode receber e.xcedente ao quantum do pre juizo. Largo tempo a Jurisprudencia e mui especialmente a doutrina se manifestaram contra qualquer brecha no principio rigido da proibigao de qual quer acumulo de indenizagao, como no de ser a sub-rogagao incompativel com a natureza do contrato de seguro, essencialmente aleatoria. Mas a idcia da sub-rogagao triunfou. Considerou-se a sub-rogagao como sendo uma ideia de justiga, por isso que ela visa os caso.s em que a obrigagao de uma divida apresenta-se distinta de sun contribuigao. fi precisamente o caso de uma pes soa obrigada, em virtude de lei ou de uma convengao, a resgatar uma divida, cujo onus ira recair diretamcnte sobre uma outra pessoa. A sub-rogagao restabelece um equilibrio rompido, e faz incidir sob o gravamc definitive da di vida quern realmente o deve suportar. Nada ha de incompativel com o carater aleatorio do seguro. O segurador se obriga por um determinado risco. pouco importando tenha sido causado ou nao por um terceiro. Mas, se produzido por fato de terceiro, justo e que este o rembolse da indenizagao paga. Como bem acentuou P. GUIHO, contrariamente ao que se afirmou por Iongo tempo, a nogao de sub-rogagao nada tern de incompativel com a do seguro. Em faltando uma disposigao expressa
de' lei assegurando-a, coino sucede no nosso Direito, devem prevaleccr as normas relativas ao pagamento com sub-rogagao. Tal foi iguaimente o movimento da nossa jurisprudencia, e que, na falta de disposigao expressa, manda aplicar os principios da sub-rogagao le gal, tanto que se tern limitado o reembolso ate a soma que o sub-rogado tiver desembolsado para desobrigar o devedor. (Cod. Civil, art, 989)» (2)
«Aplicando-se o que vem de ser exPosto, facil e verificar que ficam subrogados, de pleno direito. entre outros. OS seguintes;
«/i) a seguradora, pagando o sinis tro, fica sub-rogada nos direitos do sinistrado, como resulta dos arts. 1.432 ® 985, n'' 3, do Cod. Civil (ac. da Corte Suprema. 29 de julho de 1931, «Rev. Dir.», 103-379» (5)
<^L'assureur est la veritable partie 'esee, car il avail interit a ce que la offose assuree ne fut pas endomniagee».
6. A jurisprudencia tern se manifestado decisivamente a favor da sub-ro9agao em favor do segurador no transPorte terrestre. como se verifica dos seSuintes acordaos;
«REVISTA FORENSE», 127-444; ^ev. Juridica», 17-219; «Rev. dos ^ribunais», 155-220; 136-247; 168-606; ^Rcv. Dir.», 103-379 — Idem T. J, ^GS,apelagoes civeis 13.015 e 14.123, «REV1STA F0RENSE». XCIX 702: «Rev. STF». XIL-181: LX-102.
7. Do exposto se pode concluir que tao ha razao ponderavel para impedir 3 sub-rogagao a favor do segurador, no ■"^eguro contra os riscos de transporte terrestre.
Mesmo nao havendo, no Cod. Civil, na legislagao especial sobre segufos, referencia expressa a sub-rogagao,
(5) CARVALHO SANTOS, ^.Codigo G^'1 Briisi!ciro», vol. XIII, pag. 79, 6" odigao.
(6) VIVANTE, «Tr. Dir. Coruercialcs., de 1905. vol. 4*', pag. 4/6, ns. 1.957 e segs.

(7) PARDESSUS, «Cours Dr. Com», II, "uniero 595.
pode-se invocar com proveito o disposto no art. 782 do C6d. Comercial, pois, «-ubi ead-m ratio, ibi eadem legis dispositio»:
Por que admitir a sub-rogagao no Di reito Maritimo, e veda-la no transpor te terrestre? Nao ha nenhuma razao es pecial para a distingao.
Nem se alegue que o Cod. Civil, no capitulo sobre seguros, nao se refcre a sub-rogagao, e nem alude ao seguro. ao tratar da sub-rogagao. Embora nao o tenha feito dirctamente, e fora de diivida que o Cod. Civil inclui o segura dor no amplo caso previsto no art. 985. Ill, mormente quando se confronta esse dispositivo com o art. 1 .524 do mesmo Codigo.
MOACIR LoBO DA COSTA, cm erudito artigo publicado na «REVISTA FORENSE», (1) sustenta longamente que o Direito positive brasileiro nao assegura, de modo expresso, a sub-ro gagao legal a favor do segurador con tra OS riscos do transporte terrestre. pois a legislagao dos povos cultos subordina esse direito a existencia de texto explicito.
Do que ficou exposto acima. porem, parecc claro que a sub-rogagao em tela e perfeitamente licita, pois «a sub-roga gao restabelece um equilibrio rompido, e faz incidir sob o gravame definitivo. da divida quem realmente o deve suportars (2)
Suponha-se um caso comum, em que a mercadoria segurada e transportada por caminhao sofrc danos por culpa exclusiva da empresa transportadora (deficiencias mecanicas culposas, embriagues do motorista, violagao de regra do transito, etc. ) Se nao estivesse segurada a mercadoria, o dono da mer cadoria teria agao contra o transportador. e este seria obrigado a indenizar. Entretanto, se a mercadoria esliver se gurada, e se nao for admitida a subrogagao no transporte terrestre, o transpoi'tador, responsavel pelo evento ficara compietamcnte desobrigado de inde nizar, o dono da mercadoria nao pode ra aciona-lo, porque recebeu indeniza gao da seguradora; este nao tera agao contra o transportador, por ser vedada a sub-rogagao. Temos ai um caso em
que 0 terceiro responsavel pelo evento (transportador) e favorecido por um contrato (seguro) do qual nao participou e pelo qual nao pagou premio algum.
Como bem acentua STOLL GON(^ALVES, ja referido, «o principio da sub-rogagao dimana da propria nature2a do contrato; e uma conseqiiencia na tural do pagamento. por isso que se o segurado conservasse consigo o direito de aqao contra o terceiro, receberia duas vezes a indenizagao. Por outro lado, essc terceiro nao se poderia aproveitar do contrato de seguro, a que era estranho e pelo qual nao pagou premio algum». (4)
^L'assicuratore e surrogato perchi ha risarcito», (6) ensina VIVANTE. Logo, se a sub-roga^ao dimana da pro pria natureza do contrato, se o segurador se sub-roga porquc pagou, entao e claro que essa sub-roga?ao encontra seu fundamento na propria natureza das coisas, e pode ser aplicada tambem no transporte terrestre, quer por aplicaijao, por analogia, do art. 728, quer por aplica^ao do art. 985, III, do Cod. Civil, combinado com o art. 1.524 do mesmo Codigo.
A sub-rogagao evita que se consume uma iniqiiidade: isentar o responsavel pelo dano da obriga^ao de ressarcir, pelo simples fato de ter o prejudicado um contrato de seguro.
Que argumentos podem ser alinhados validamente contra a sub-roga^ao do segurador? Nao a falta de textos legais, pois e evidente que a materia e abrangida pelo art. 985, III, do Cod. Civil, e que o art. 728 do Cod. Comercial se aplica, por analogia, a especie.
«0 pagamento com sub-rogaijao, en sina JOAO FRANZEN DE LIMA, e uma institui^ao sumamente equittiva, porque favorece a alguns e nao prejudica a ninguem. Favorece ao credor, porque recebe o que e seu sem maiores delongas, possibilitando a um terceiro efetuar o pagamento em um momento em que isso nao fosse possivel ao devedor. Favorece ao devedor, porque nao Ihe sendo possivel, na ocasiao, ocorrer ao pagamento, a sub-rogagao
alivia-o, desembaragando-o de execu^ao iminente pela passagem do credito a outras maos. Favorece ao sub-rogado, porque Hie da todas as garantias que tinha o credor primitivo. Nao prejudica aos demais credores, porque sua posigao nao se altera com essa substituigao de pessoa». (8)
8.A sub-rogagao se opera pelo sim ples pagamento do dano, e nao nccessita para sua prova scnao do simples recibo desse pagamento, nao estando pois sujeita a formalidade alguma. (4)
^■Questa surrogazione, come ogni surrogazione legate, non e suggetta ad alcuna formalita. (6)
Para inAentar a agao, sub-rogado nos direitos do segurado, nao necessita o segurador exibir a apolice («REVISTA FORENSE», LXXV-295): basta a apresentagao do recibo de pagamento da indenizagao, (4) nao sendo necessario o cumprimcnto de qualquer outra formalidade».
O Supremo Tribunal Federal ja decidiu nesse sentido, em 11-7-1923: «0 simples recibo de pagamento prova a sub-rogagao que e conseqiiencia forgada dele» (4) «Rev. Sup. Trib.», LIV. 181).
Pouco importa, para que ocorra a sub-rogagao a favor do transportador, no seguro contra os riscos do transporte terrestre, que a apolice contenha ou nao clausula regulando a sub-rogagao. Mesmo que a apolice a ela nao se refira, a sub-rogagao se opera por forga de lei.
Ante o exposto, salvo melhor juizo, concluimos que, mesmo no seguro con tra OS riscos do transporte terrestre, sc opera a sub-rogagao a favor do segu rador, nos termos dos arts. 985 III e 1.524 do Codigo Civil, combinados com o art. 782 do Cod. Comercial bastando para prova da sub-rogagao a simples apresentagao do recibo da indenizagao, firmado pelo segurado.
(8) JOAO FRANZEN DE LIMA. «Curso de Direito Civil Brasileiro®, ed. de 1958 — «Direito das Obriga?6es», vol. II, t. !■ pag. 221,

(Transcrito da Re^ista Eorense, vol. ISA janeiro-fevereiro de 1960).
Emilio Perez de Agreda *Integragao e desenvolvimento
economico na America Latlna
Seguro de Credito a ExpORTAgAO
OS MEIOS DE AC^O
(Continuagao)
Os Organismos Operacionais
Os organismos operacionais da Coraunidade, dados os setores em que esta dever atuar, distribuir-se-ao entre cinco grupos principals: 1) inversoes; 2) financeiro: 3) comercial; 4) cultural, e 5) saude, bem-estar e seguranga social.
Organismos Setorlais de Inversao
Dado seu objetivo principal de <dntegrar para o desenvolvimento», a Coniunidade necessitara de organismos que promovam inversoes setonais c se ocupem da produgao de dctermmados bens e de sua comercialiragao, Em vista da diversidade dos setores que considerar e das novas tarcfas que cumprc Icvar a cabo em cada setor, nao e conveniente pensar num organismo cen tral de todas as empresas produtoras vinculadas a Comunidade, A Comissao Executiva podera, se o julgar conveni ente, por sua iniciativa ou sob sua pro-
• Doutor cm Direito (Univer.sidade de Madri) Econom'sta (C.E.E.)
Trabaiho apresentado pelo Centre dc Investigaciones y Estudios del Seguro Iber<«mericano a XI Asseinbleia PlenSria da Confcrencia Hemisferica de Scguros, celebrada em Nova Orleans, dc 12 a 16 de novembro de 1967.
, Reapresentado em junho de 1968 em Maori, na RcuniSo de Trabalho sobre Seguro de Cred.to k Exposi^ao.
pna autoridade. constituir uma Comis sao de Coordenagao c Controle de In versoes diretas da Comunidade ou sujeitas a sua supervisao. O essencial -e considerar, conforme se indicou ja neste estudo, cada setor cstrategico como um sistcma integrado. Dever-se-a tender, por isso mesmo e em principio. para a constituigao de um Conselho de Coor denagao por setor.
O Conselho devera ser integrado pclas principals empresas nacionais que ja operem no setor. O Conselho de Coordenagao funcionara, sobretudo, para integrar os interesses ja constituidos e para orientar as medidas de intcresse comum relacionadas com a aquisigao das materias-primas e a venda dos produtbs. 0 Conselho tera por finalidade principal promover novas in versoes no setor, de acordo com a politica dc expansao, de destinagao de recursos e de localizagao das novas em presas que tenha sido adotada pela Co missao Executiva. Desta maneira o Conselho de Coordenagao de cada se tor funcionara como um orgao assessor c consultivo. Os Conselhos setoriais deverao ficar diretamcnte vinculados a Comissao Executiva.
Dcver-se-ia estabelecer, tambem, um organismo promoter do desenvolvimen to agricola e regulador da oferta de produtos alimenticios. As fungoes especificas desse organismo seriam, por um lado, promover projetos agricolas e de produgao dc alimentos. No piano comercial coordenaria a comercializagao intra-regional de alimentos. Essa or-
ganiza^ao deveria tambem coordenar a distribui^ao dos excedentcs agricolas que OS Estados Unidos colocam na regiao sob o regime da PL480, com o fim, conforme antes foi assinalado, de racionaiizar a colocaqao dc tais excedentes vinculando-os ao desenvolviniento agricola da regiao e, ao mesmo tem po, estabelecer uma fonte especial de ingressos aplicaveis ao fomento da produgao agropecuaria regional.
A formula?ao dos estudos de preinversao e a execuqao dos projetos de infra-estrutura que nao fossem de competencia dos organismos regionais criados para esse fim, deveria ficar a cargo dos paises diretamente interessados, com a ativa participagao do BID. que dcmonstrou um manifesto interesse de operar nesse campo.
Tambem as corporagoes autonomas de desenvolvimento de zonas fronteiri?as deveriam integrar-se mediante os paises diretamente interessados, para contar, nao obstante, com uma ativa cooperagao dos organismos gerais da Comunidade que coordenariam suas atividades.
Organismos Financeiros
A Comunidade necessitara de um organismo ou sistema capaz de reaiizar opera^oes proprias do banco central. Vinculado diretamente a Comissao Executiva, esse orgao deveria tcr rela?6es diretas com os bancos centrais de cada pais membro, a fim dc assegiirar a coordenagao das politicas monetarias, crediticias e cambiais. ConsequeiUemente, parece muito adequado constituir um Conselho Consiiltivo, inteqrado pelo presidentes dos bancos centrais filiados, que atue como orgao de recomenda^ao e de coordena^ao de poli ticas.
fiste orgao regional tera, alem disso. fim^oes importantissimas em dois canipos; no do financianiento das inversoes e no do financiamento das exportagoe.^.
Tudo indica que, com o curso do tem po. ser.a coiiveniente a especializagao dessas duas areas de operagoes, em articulagao com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e por intermedio deste, que nesses dois tipos de finan ciamento conta com organizagao e cxperiencia excelentes. Mais ainda, a Comunidade deveia contar com orga nismos ejpecificos para promover o fi nanciamento das inversoes setoriais e de desenvolvimento fronteirigos previ.stas no programa de integragao.
Por outro lado, as operagoes financeiras da Comunidade deverao incluir as de seguros e resseguros. Conveni. portanto, constituir, diretamente vin culado a Comissao Executiva, um organismo regional destinado a outorgar a cobertura de resseguros dos sistcma.s nacionais de seguros e resseguros, bem como, em determinados casos, a reaii zar operagoes direta.s de seguros, Devem incluir-se, principalniente. entre o seguro e resseguros desse organismo. OS relatives aos transportes, intra-e extra-regionalmente, o seguro de scus creditos, a semelhanga do sistema adotado atualmente na Europa por instituigdes como ECGD (Inglaterra)• HERMES (Alemanha), COFACE (Franga) e oiitras, Em paginas dedicaremos especial atengao ao sistema em vigor na Espanha, e praticado pelo Consoicio de Compcnsa^ilo de Seguros e a Companhia. Espanhola de Seguros de Credito c Caufio. Membro fundador, faz mais de seis lustres, da dcnominada Uniao de Berna, Desejamos testemunhar nossa gratidao a citada Companhia Espanhola de Seguros de Credito e Caugao que nos facilitou uma informagao exaiistiva sobre o interes-
santc tema do Seguro de Credito a Exportagao, instrumento indispcnsavel em qualquer tipo de politica expansionista das vcndas ao exterior.
Organismos Comeiciais
A coordenagao intra- e extra-regio nal do comcrcio latino-americano deve ser atribuida ao orgao regional ja constituido para a integragao comercial da area; a Associagao Latino-americana de Livre Comcrcio. Concebida c constituida antes da Comunidade, a ALALC dispoe de organismos diretivos que devessem fundir-se numa so diregao poli tica e executiva superior, a Comunida de. A ALALC permaneceria, assim, como o Secretariado Executive daquela. Por outro lado, importa considerar duas solugoes alternativas cm relagao ao processo de aboligao gradual das tarifas aduaneiras intra-regionais c a ado?ao de uma tarifa comum extra-regio nal. O primeiro processo, que e o prcferivel a luz da integragao regional, consiste em adotar, como no caso do Tratado de Roma, o principio das redugoes automaticas em pcrcentagens e em prazos preestabelecidos, deixando igualmente sujeita a um prazo fixo a unificagao cxterna das tarifas. O segundo processo, que se aproximaria mais do atualmente adotado pela ALALC e que con.stituiria um compromisso entre o regime vigente e os re quisites sine qua non de funcionamento da Comunidade propostos neste estiido, consistiria em dividir as tarifas em dois grupos; o dos setores estrategicos integrados e o dos dcmais setores, Gradiialmente e conforme o exija o programa de inversoes. os produtos dos setores estrategicos e suas respectivas materias-primas basicas se submcteriam a uma tarifa comum extra-regional c a uma supressao de tarifas intra-regio nais sujeita a prazos fixos e redugoes automaticas, sempre que nao se pudesse proceder a aboligao mediata de todos OS tributes. As tarifas internas dos produtos nao incluidos no primei ro grupo poderiain supriinir-se pela via das negociagoes, dentro de condigbes prestabelecidas que assegurassem a su

pressao dos tributes num prazo determinado, como se estabelece no Tratado de Montevideu. Para este ultimo, a ALALC deveria dispor, alem do Secre tariado Executivo, de um Conselho de Represeiitantes em cujo seio serao realizadas inteiramente essas negociagoes.
Alem da ALALC, a Comunidade deveria dispor de Conselhos Comerciais que funcionassem como «Trade Boards» para os principais produtos de exportagao. fortalecendo a capacidade de negociagao dos paises membros perante o exterior, mediante a unificagao ou coordenagao de suas politicas de comercio exterior. Ssses Conselhos Comerciais, constituidos por reprcsentantes dos paises e empresas interessadas. seriam orgaos assessores e consultivos da Comissao Executiva.
Organismos Edacativos e Culturais
A integragao economica da America
Latina cxigc a coordenagao dos sistemas educativos e culturais e faz necessaria. complementando e ampliando os objetivos do recentemente constituido Institute de Integragao do BID, a criagao de um organismo ou Conselho Universitario regional integrado pelos reitores das Universidades latino-americanas — existe ja uma Uniao de Uni versidades da America Latina que, devidamente reestruturada, poderia ser a base do novo orgao aqui proposto. ]a foram indicados neste informe os re quisites principais de uma politica educacional e cultural que deverao ser satisfcitos. Para o desempenho de tais fungbes, o organismo central necessita ra cstar em condigoes de proporcionar dois tipos de tarefas muito distintas. porem igualmente e.ssenciais; as investigagoes de alta complexidade cientifica e tecnologica — nas quais se impoe, por razbes dc economiii, a conjungao dos esforgos de todos os paises latino-aniericanos em centres de investigagao e ensino — e os cursos de tecnicas medias que por diversos motivo.s {como, por exempio, a falta de «prestigio» tradicional dessas e.spccialidades) sao tecnicas particiihumente es-
•cassas na regiao. Em relaqao com estas ultimas convem que o Conselho Cen tral estabele^a cursos-modelo que sirvam, inclusive, para preparar ou aperfei?oar professores que possam encarregar-se de tais cursos nos diversos paises iiiembros em que se fa?a sentir a ausencia destes profissionais.
Entre as atividades que serao desenvolvidas pelo Conselho Central, con vem destacar a criagao de Institutes de Investigaqoes Cientificas e Tecnologicas que sirvam de centres de especializa?ao e adestramento de alto nivel, incluido a energia nuclear, a cibernetica e a astronautica.
Em estreita vinculagao com as empresas setoriais interessadas, devem ser criadas sociedades de consultores tecnicos que cubram todos os ramos em que se empreendam importantes inversdes na America Latina.
Por fim, conviria criar uma Agenda Latino-americana de Informa^oes. Esta e, sera diivida, uma entidade estrategica indispensavel para o desenvolvimento integrado da regiao. tanto porque, atualmentc, o desconhecimento e a informagao equivocada, dcntro e fora da regiao, da realidade latino-americana, dificiiltam imensamente o desenvolvimento da regiao, como porque, criada a Comunidade, o estreitamento das relagoes entre os povos da America La tina exigira de uma entidade e.specializada que informe de suas atividades a partir de um ponto de vista latino-americano que estimule o desenvolvimento.
Organismo de saude, bem-esfar e segaran^a social
A saude piiblica e o bem-estar social constituem um requisite e, ao mesmo tempo, um objetivo do desenvolvimen to economico e social. A coordena?ao das politicas e dos esfotcos t-ecnicos e financeiros para buscar a mclhora nas condi^oes da saude do povo latino-americano constituira, certamente, um dos aspectos mais importantes da integra-
qao. As reunioes de ministros da Saiide Publica da America Latina, a Ata de Bogota e a Carta de Punta del Este sao testemunhos da preocupa^ao das Republicas da America Latina por este tema. O organismo operacional. em materia de saude publica, estaria encarregado de tragar as politicas que scguir pelos diversos paises nas diversas regioes da America Latina: reunir esforQos tecnicos e financeiros e proceder a realizagao de um piano regional de meIhoramento da saiide publica da Ame rica Latina. Do mesmo modo que, em materia econoraica. se buscara a otimizatao dos fatores, nesta materia se tratara de estabelecer hospitais e centres de investigagao especializados, dotados dos liltimos instrumentos da tecnica moderna, que assessorariam as Faculdades de Medicina da America Latina.
Outra fungao de que poderia incumbir este organismo operacional e a que se relaciona com o problema da habitagao na America Latina.
O organismo regional para habitaglo cobriria os aspectos institucionais, fi nanceiros e tecnicos, e de planificagao da habitagao na America Latina, procurando coordenar a politica habitacional latino-americana. O de[icit de moradia na regiao. estimado em mais de 15 milhoes de unidades. e o elevado nivel de crescimento da populagao indicam que o problema habitacional devera ser objeto de uma atengao espe- cia^l, e coordenada, para aproveitar todos OS recursos existentes. fiste or ganismo deveria coordenar sua agao com OS Institutes Nacionais de Habitae com o Centro Interamericano de ttabitagao e Planificagao (CINVA).
Neste ambito, como medida de duplo eteito — pois devera, por um lado, ajudar a mobilizagao da mao de obra e, por outro, fazer dcsaparecer os desniveis competitivos —,propoc-se a coordenagao dos sistemas de seguranga social, a equivalencia ou transferencia de prestagoes e servigos assistenciais, bem como a utilizagao das reservas para o financiamento de programas de medicina prcventiva.
PRAZOS E ETAPAS PARA O DESEN VOL VIMENTO
INTEGRADO DA AMERICA
LATINA
A CRESCENTE BRECHA
TECNOL6GICA
A America Latina atrasou-se um sefulo jia absorgao e na aplicagao dos principios cientifico-tecnologicos da prinieira revolugao industrial,,o que explica seu atual subdesenvolvimento rela tive.
Quando a regiao se encontra ainda muito longe de recuperar o terreno perdido, defronta-se com a formagao de "ma nova brecha cientifico-tecnologica 9ue se amplia rapidamente, distanciando-a cada vez mais dos paises que ingressarani, com a energia nuclear e a cibernetica, na segunda revolugao in dustrial.
Se ate agora o ritmo de desenvolvi mento da America Latina tem sido nitidamente insuficicnte para compensar o atraso acumulado no periodo que vai do segundo tergo do seculo XIX ao Pfimeiro tergo do seculo XX, o incotnensuravel efeito multiplicador que a Segunda revolugao industrial ja esta produzindo nos paises mais adiantados significa que, se mantiverem as condigoes presentes, o atraso relative da America Latina, longe de diminuir, se fara cada vez maior. Produzir-se-ia assim uma degradagao qualitativa da posigao relativa da America Latina, em comparagao com os paises industrializados, o que tenderia a coloca-la numa situagao analoga a que apresentavam no passado as sociedades primitivas em comparagao com os povos clvilizados.
A determinagao historica
As crescentes contribuigoes das ciencias e a experiencia dos ultimos anos permitem comprovar dois fatos fundamentais no que respeita ao desenvolvi mento das sociedades.
O primeiro e que o desenvolvimento se opera por saltos, mediante a transigao estrutural de uma etapa a outra su perior.
Assim ocorre quando, segundo a terminologia de Rostow, a sociedade passa da etapa tradicional a ctapa do desen volvimento auto sustentado, ou deste a maturidade economica.
O segundo fato c que as sociedades nao "contam indefinidamente com a oportunidade de realizar esses avangos de uma etapa a outra superior.
Depois de acumular certa taxa de atraso histbrico, as sociedades perdem a capacidade de evolucionar em sua.s proprias bases economicas, socials, culturais e politicas.
Encontram-se entao, conforme o grau relativo de seu desenvolvimento, diante da alternativa de cristalizar-se, como acontece com .os priraitivos ou com as sociedades de civilizagao abortiva (a Otomana, a Abissinia), ou de serem desarticuladas por formas organizadoras e padroes culturais externos e alheios que absorvem, para fins estranhos c incompativeis com a unidade interna dessa sociedade, seus elementos humanos e seus recursos naturais.

A analise da presente situagao revela. de forma inequivoca, que e iminente na America Latina a determinagao histbrica de suas posslbilidades de de senvolvimento, segundo seus prbprios padroes e suas proprias formas configurativas.
A amplitude da sociedade que a conforma e seu relativo grau de desenvol-
vimento, bem como, externamente a ela, o crescente estreitamento das relagoes entre os paises indicam que, provavelmente, nao se encaminha ela para um estancamento abortive scmelhante aos mencionados.
O que, provavelmente, tendera a ocorrer na regiao, se esta nao lograr desenvolver-se no prazo de que, historicamente. ainda dispoe, sera a desintegragao de sua unidade, tanto no piano regional^ como no de cada um dos paises que a compoem.
Seus elementos humanos e seus recursos naturais, consolidando tendendas que ja se fazem scntir. serao utilizados em proveito de outros centres politicos civilizados.
As elites latino-americanas. emigrando ou permanecendo nela como simples representantes de interesses externos, encontrarao ocupa^ao tecnica ou gerenciai a servigo de tais interesses.
Nao e possivel. naturalmente, precisar o prazo que ainda resta a America Latina para dar o salto ate o desenvolvimento e escapar assim a desagregagao politico-social a que de outra raaneira, estaria condenada.
Se considerarraos que os efeitos da implantagao e extensao do emprego da tecnologia cibernetica comegarao a se fazer sentir plenamente, a partir de 1980. e que, per outre lado, conforme demonstra o exemplo dos pianos quinquenais sovieticos, somente no curso do terceiro piano qiiinqiienal (supondo-se uma elaboragao e uma execugao apropriada dos pianos) .se conseguira cumprir a etapa do desenvolvimento auto•sustentado. parece razoavel concluir que a America Latina deve estabelecer para si, como meta minima, alcangar essa etapa nos proximos quinze anos.
Per conseguinte, e necessario realizar a integragao economica da regiao. condigao basica de sen desenvolvimento. antes de 1980.
Integrada e em processo autosustentado de desenvolvimento, a America Latina passara a dispor entao de um novo prazo historico, provavelmente mais extenso que o anterior, para recuperar-se, no essencial, de sen atraso relative na incorporagao e generalizagao da segunda revolugao industrial.
DA REGIONALIZAgAO A INTERNACIONALIZAgAO
A superagao do sistema dos estadosnagao, a partir da primeira guerra mundial, que marcou um acontecimento his torico analogo ao que conduziu, a par tir do Renascimento, a superagao das estruturas feudais e dos estados- cidade italianos e hanseaticos, assinalou duas possibilidades de formagao de estados-continente.
A primeira e a que se realiza mediante a integragao, em amplos espagos, de nagoes de fronteiras expansiveis, como nos casos dos Estados Unidos e da Uniao Sovietica.
A segunda e a obtida atraves da in tegragao regional, como no caso da Comunidade Economica Europeia.
A internacionalizagao do mundo, resultado da universalizagao da cultura ocidental e das exigencias econoraicas impostas pela civilizagao tecnologica das massas, nao se produziu. como pensavam os fundadores da Sociedadc das Nagoes. por meio da gradual integra gao de uma sociedade internacional que fundisse todas as nagoes num unico Estado mundial.
O processo se produziu atraves de integragoes regionais, funcionando os orgaos superiores das Nagoes Unidas como Parlamento para discutir os problemas internacionais e solucion.a-los por acordos.
Ea regionalizagao que esta conduzindo a internacionalizagao. Esta nao tipresenta condigocs para a integragao das antigas sociedades nacionais, senao pas.sando pela etapa intermedia — eta pa de duragao imprevisivel, embora. pa rece. nao efemera — da integragao pela regionalizagao.
No caso da America Latina, se o Imperio Espanhol nao se houvesse fragnientado com a Independencia. e se o Brasil nao tivesse pennanecido, ate principios do segundo tergo deste seculo. como um apendice de opulento reino europeu, duas grandes nagoescontinente se haveriam formado, o que hoje, provavelmente, tornaria desneces^^aria a integragao regional latino-americana.
Nas condigoes atuais, nao obstante, ^ integragao regional e o unico caminho aberto a toda a America Latina. tanto para seu desenvolvimento, como para sua incorporagao ao novo sistema internacional das supernagocs.
AS TRfiS ETAPAS DA INTEGRAgAO
A primeira etapa
A fim de alcangar, ate 1980.umgrau de. integragao regional e de desenvolvi mento autonomo e autosustentado que Ihe permita, posteriomente, preservar sua sobrevivencia historica como socie dade dotada de sentido politico-economico proprio. a America Latina deveria programar sua integragao para o de senvolvimento, de modo que este se efetuasse em tres etapas sucessivas que
vencessem. a primeira em 1970. a se gunda em 1975 e a terceira em 1980.
A primeira etapa. para a qual se preve um periodo de execugao de seis anos, por ser a inicial, teria por objetivos principals:
a) No piano institucional, a assinatura do Tratado Geral da Comunidade Latino-americana e a implantagao dos orgaos e normas prcvistos no Tratado, bem como a aprovagao do Primeiro Pia no Regional de Desenvolvimento;
b) No piano das inversoes setoriais. a integragao dos setores mais cstrategicos, comegando com a siderurgia e a indiistria de cquipamentos pesados, mediante a constituigao dos respectivos Conselhos de Coordenagao;
c) No piano comercial. a reativagao da ALALC, ajustando-a a integragao setorial. prcvendo a gradual unificagao das tarifas externas e a supressao das internas para os produtos {e suas prin cipals materias-primas) de setores estrategicos;
d) No piano financeiro. a coordena gao regional de um sistema de banca central de seguros, gradual harmonizagao das politicas monetaria c de cambio, adogao de um mecanismo intra-regional de pagamentos, emissao de valores em moeda de conta regional de valor estavel, para a mobiiizagao da economia regional;
e) No piano das atividades culturais e educativas, a constituigao do Conseiho Central Univcrsitario e da Agenda Latino-americana de Informagoes, bem como o comego da grande campanha regional de alfabetizagao.
A segunda etapa
A segunda etapa da integragao (1971-1975) seria a da consolidagao institucional e a do langamento no co-

mercio intra — e extra-regional dos produtos das novas industrias integradas.
Os pdncipais ob|etivos nesta etapa serlam os seguintes:
a) No piano institucional, a consolidagao do sistema estabelecido pelo Tratado e a aprovaqao do Segundo Piano Regional de Desenvolvimento;
b) No piano das invcrsoes setoriais, a concretiza^ao final dos esforgos de integragao dos setores cstrategicos;
c) No piano comercial, a culminagao do programa de iiberagoes do Tratado de Montevideu. assim como a obtengao da uniao aduaneira para os setores estratcgicos. Aiem disso, a promogao ativa da comerciaiiza^ao extra-regional dos produtos da regiao;
d) No piano financeiro, a ampiiaqao das opera^oes regionais de banca cen tral e de seguros; a mobiiizagao de recursos intra — e extra-regionais, e o fortalecimento das moedas regionais e de sua conversibilidade;
e) No piano cultural, a consolida^ao do Conseiho Central Universitario e o termino da campanha regional de aifabetizagao.
A terceira etapa
A terceira etapa da integragao deve conduzir a estreita unidade interna da regiao, a etapa de desenvolvimento autosustentado e a uma extensao da uni dade regional no piano politico. Os principais objetivos nessa etapa sao os seguintes:
a) No piano institucional, revisar o sistema institucional com vistas a uma extensao da integragao ao piano politi co e aprovar o Terceiro Piano Regio nal de Desenvolvimento;
b) No piano das inversoes setoriais, culminar a integragao dos setores cstra tegicos e estender a integragao a outros setores;
c) No piano comerciai, ultimar o estabeiecimento do Mercado Comum La tino americano;
d) No piano financeiro, intcgrar, de modo crescente, os sistemas e politicas monetarias e financeiras, obter a estabiiidade e conversibilidade monetaria re gional e a formagao de um mercado integrado de capitais para toda a regiao;
e) No piano cultural, langar o pro grama de educagao secundaria urbana obrigatoria para toda a regiao.
As tres etapas de integiagao acima mencionada.s constituem siicessivas eta pas de desenvolvimento e de articulagao regionais,
Os paises da America Latina ja dispoem das condigoes minimas para atacar, em conjunto, a execugao de tal pro grama.
Se o fizerem com razoavel eficienciii. nao pode haver duvidas de que sera superado o atraso secular da regiao e de sens povos, em regime de igualdade de acesso aos beneficios da civilizagao tecnoiogica. e passarao a constituir uma das grandes unidades regionais em torno das quais gravitara a historia do seculo XXI.
Se nao conseguirem realizar um pro grama equivalente ao acima indicado. no curso dos proximos quinze anos, os povos latino-americanos sofrerao, inevitavelmente. o processo desagregativo apontado neste estudo.
Todos os esforgos de desenvolvimen to que se circunscreverem ao quadro puramente nacional dos paises latinoamericanos — inclusive nos paises grandes da area e, a fortiori, em todos OS medios e pequenos Estados — tenderao a revelar-se impraticaveis, pela crescente desproporgao existente entre OS outros paises latino-americanos, isoladamente considerados, e as supernagoes que exercem agao hegemonies no~ raundo.
CRONOGRAMA GERAL DA COMDNIDADE ECONSMICA DA AMERICA LATINA
(1965 — 19S0)
ET.VPAS DE EXECUfAO
ATUT&ADES PniNCIPAlS
I; 106.51070 It: 1071,'1975 III: 1976,'19S0
IiiAlitacionais
1065i'GG - N('cocta?ao c :issinati)ra do Tratodo Gcral da Counmidadc Econyiiiica da .Vmfrica 1-atitia.
1967 - Cciwlituifao dos ('irgfios e aprovavai) do seas rcgulatiteutos.
1067 - AprovarSo pela CcmissSo Exorutiva do Cronoffraoia Gcral al6 1900 do cxccutio do Tratado Gcral.
19G$-Aprovatao polo Cotuelho dc GoocrDo 0 a Coniissilo Exccotiva do 1 Piano de Descnoolvimcnto RcBioaai (WOS.TO).
OperafBes do invctsSo.-..
1071.'75 - roiisclidataodosistcnia institucional do Comunidadc.
1071 - Aprovapan pclo Conseiho dc Governo c a Comissao Esccutiva do 1! Piano Quinquenal Regional. (1971:75).
!97G-RevIsao do sistema insti tucional da IntcgToedo com vbcas a utna cxtcnsOo do procciso dc iiiti^racno ao piano politico.
1076 - Aprovaf-ao pclo Conseiho de Governo c a ComissSo Eiccuiica do III Piano Quinqucnal de De senvolvimento Regional (1976.'&J!.
'^PCTasOes dc Com6rtio..
1007,70-ConslitaijSo dos Conselho.s de CoordcnacSo o dos insIrumcntos dc ac5o nos setores cs trategicos.
Preparacao e laQfanjeoto dos ptimciros programas e projctos scto* rials dc ItiveraOes.
1005.70-.Ativacjo das ncROCiaC5c3 da ALAl.C" sea adaplacio a gradual implanlacaodc uni mercado cocQum para as sctercs intcgrados
1965/70 - FcrmulatSo c csecucSo dc politicoa comuna para a comcrcialiratSo intra c cxtra-regicnal dos principais produtos dc expr^lafao.
^'poracBcs Financeiras
lD67-Con5tituisfio do Sistema Regional dc Banca Central.
197lj'75-ConsolidsfSo c ampliaeno dos pr -gramas c proiclos dc invcrsoG para a inlegrapno sclorial.
1976,'BO - Culmiiiarao da iulegrapSo region^ dos setores estrategicrs e ampliapno do numero dc sctorcy sujcitoa aos pianos ccmuus dc invcrsSo.
1073 - CulminacSo do programa de Lberacfio previsto no Tratado de Moctevidiu (Comtrdo ciistentf).
1971/75-CulminatSo da forma{So do mercado comum para oa se tores intcgradca, ExtcDsio gradual dcsta poUlieaa maior quantidadc poasivcl de oulras atividades.

1971/75-AropliajSo dos Ativida des do Bistcma Regional do Banca Central com parlieular fnfase na c^tafSo c mobiliratSo da cconomia regional para as InvcisSes dc intcgracSo.
1067 - ConstiluicSo do Sistema Regional dc Seguros.
!07li'75 - Aniplia{Jlo das ativida des do Sistema Heponal de Segurca
1976:60 - Culminafao do cstabelecimcnto (com indusio de todos es produtos] do Mercado Comum Latino-americano.
1976i50-Amplia{So daa Atividadot do Sistema Regional do Rnncu Central coo vistas a uma intcgrapSo crescente doa sistemas monetsrios c nnancciros dee paises do sis tema 0 daa politicas nestcs campos.
1976.'80-.Amplia{ao daa ativida des do Sistema Reponal de Seguros com vistas 5 integrapao daa ativi dades do Seguros 0 Re&cguros,
DESENVOLVIMENTO DO COMSRCIO INTERNACIONAL
Desde o tzrmino da segunda guerra mundial ate o momento, o valor das exportagoes mundiais aiimentou com muita rapidez. De urn mode concrete, de 1950 a 1962, o valor dessas exporta^oes passou, em termos absolutes, de 60.900 a 138.500 milhoes de dolares, isto e, aumentou em 128%, o que representa uma taxa media de incremento anual aproximado de 7%
Nos primeiros anos do periodo, esse incremento foi superior a media, alcanfando mais de 8%, enquanto que no final do citado incremento desceu a urn nivel aproximado de 5'/ .
A situa^ao mudou de forma um tanto espetacular nos dois ultimos anos, pois o valor das exportagoes mundiais aumentou em 9% em 1963, e em 127c em 1964, em virtude, especialmente, da iiitensifica^ao do comercio entre os paises industrials,
Por causa destes ultimos aumentos, o valor das exportagoes mundiais alcan^ou uma cifra superior aos 170 bi lboes de dolares,
Nossas ultimas noticias registram que, ate fins de 1966, o valor das exportagoes mundiais superava ligeiramente os 200 bilboes de dolares.
Esta florescente evolu^ao geral do comercio, desde o termino da segunda guerra mundial ate o presentc, contrasta com a que se realizou durante as duas decadas que precederam ao cita do conflito belico, pois, a partir de 1928, as exportagoes mundiais foram caindo paulatinamente ate alcangar um nivel muito baixo, primeiro como con•seqiiencia da Grande Depressao c depois cm virtude da conflagragao mun dial de 1939/1945. So em 1948 as ex portagoes mundiais atingiram o nivel obtido vinte anos antes,
Mas o incremento geral das exporta goes mundiais, nos tres ultimos lustros, nao teve uma distribuigao uniforme entre os paises. For um lado, o valor das exportagSes dos paises desenvolvidos com economia de mercado aumen-
tou no periodo 1950-1962 em 150%, devido, fundamentalmente ,ao comercio inter-regional de manufatiiras entre eles, c passou dos 3/5, em 1950, aos 2/3, em 1962, do total das exportagoes mundiais,
Por outro lado, o valor das exporta goes dos paises com economia planificada cresceu no mesmo periodo 250'/ . devido, principalmente. ao comercio intra-regional entre as nagoes do grupo. e passou de 8% a 13% do total das exportagoes mundiais,
Peio contrario, o valor das exporta goes dos paises subdesenvolvidos so aumentou no mencionado periodo em 5'/, devid.o, substancialmente, a venda de produtos priraarios aos paises desenvolvidos com economia de mercado, aos que tradicionalmente enviam mais de 2/3 do total de suas exportagoes.
Estes paises subdesenvolvidos comerciam pouco com os de economia planificada, aos quais vem mandando cerca de 6% do total de suas exporta goes, embora dito comercio tenda a aumentar atraves de acordos bilaterais, a medio e a longo prazo, que estipulam a quantidade, o valor, ou ambas as coisas das mercadorias intercambiadas.
A lentidao no crescimento das ex portagoes dos paises subdesenvolvidos em face da rapidez do dos outros grupos de paises, determinou que a participagao relativa dos primeiros, no in cremento das exportagoes mundiais, tenha ido diminuindo (as exportagoes de tais paises representavani 1/3 do total mundial em 1950. enquanto que, em 1962 haviam caido para 1/5) e que tal baixa haja influido substancialmente na diminuigao do ritmo de crescimento das exportagoes mundiais, que. como mencionamos antes, e a margem dos progresses experimentados nos anos de 1963 e 1964, passou de 8%-. em 1950. a 5%, em 1962.
A queda relativa das exportagoes dos paises subdesenvolvidos aliada a piora de sua relagao real de intercambio, com a conseguinte baixa de suas entradas de divisas, vieram coincidir numa epoca em que mais necessitam esses paises de dispor de dinheiro externo para importer o capital real que
Ihes e indispensavel, com vistas a seu desenvolvimento,
Em virtude destas circunstaiicias, o valor das importagoes dos paises sub desenvolvidos supera normalinentc ao valor de suas exportagoes e, por con seguinte, se endividam cada vez mais com os paises desenvolvidos de econo mia de mercado e com os paises de economia planificada.
Esta divida comercial. que se ve agravnda, alem disso, pelas condigoes especialmente onerosas que os credores costumam impor a seus devedores cronicos asccndeu a 600 milhoes de dolares em 1955 c a 2.300 milhoes em 1962, ao mesmo tempo em que seus pagamentos liquidos ao exterior, em termos de entradas derivadas das inversoes diretas e de outras saidas invisiveis (gragas as quais sac tradicional mente deficitarios), foram de 3.300 milhoes de dolares ate o ano de I960.
Este deficit de sens balangos de pa gamentos vem sendo cobertos com creditos a longo prazo procedentes do ex terior, fundamentalmente dos paises desenvolvidos com economia de merca do; nao obstante, esta fonte de capital estrangeiro comega a perder iniportancia devido a que os reembolsos que os paises subdesenvolvidos tern que efetuar a seus credores estrangeiros, em termos de juros e amortizagoes, come?am a crescer mais rapidamcnte que o ^umento dessa ajuda estrangcira, Quer-se dizer com isso que se esta iniciando um processo infecundo de endividamento, em virtude do qua! os paises desenvolvido.s emprestam diaheiro aos subdesenvolvidos para que estes Ihes possam pagar as dividas contraidas anteriormente, Como indicamos antes, as exporta goes dos paises subdesenvolvidos se enderegam, basicamente, aos paises de senvolvidos com economia de mercado e, em grau muito menor, embora crescente, as economies planificadas, Pelo contrario o comercio intra-rcgional entre os mesmos paises subde senvolvidos (aproximadamente 1/4 de suas exportagoes totals) e pequeno e aumenta pouco, em que pesem os intentos de integragio economica e co
mercial que existem em agumas zonas em processo de desenvolvimento,
Pondo-se de lado que as coraunicagoes e os transportes entre os paises subdesenvolvidos constituem um obstaculo importante para o crescimento do comercio intra-regional entre eles, a causa basica de que esse comercio esteja estagnado e que as maCerias-primas que exportam nao sac da necessidade dos outros paises subdesenvolvi dos, em virtude da escassez de suas atividades industrials,
E precisaraente a industria dos paises desenvolvidos que as absorve, embora o ritmo de crescimento desta absorgao seja relativamente pequeno, por causas diversas, entre as quais mencionaremos, uma vez mais as seguintes: aumento da produgao dessas materias-primas nos paises desenvolvidos, poupanga no emprego dclas por causa de novos e meIhores processes tecnicos de elaboragao dos bens terminados, e aparecimento de produtos sinteticos que substituem com vantagem as materias-primas naturais.
For todas estas razoes, encontram-se relativamente estagnadas as exporta goes dos paises subdesenvolvidos e piora para eles sua situagao comercial no mundo, Seu comercio nem e dinamico no sentido horizontal (comercio com OS outros paises subdesenvolvi dos) nem estimulante no sentido verti cal (comercio com,os. paises desenvol vidos de economia planificada), o que obstaculiza gravemente seu desenvolvi mento economico,
A fim de buscar solugoes para o problema, reiiniu-se, em 1964 em Genebra, a Conferencia das Nagoes Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento, cujos primeiros antccedentes remontara ao mes de dezembro de 1961, quando a Assembleia Geral das Nagoes Unidas designou a decada atual como «Decenio das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento» e pediu ao Secretario Ce ra! das Organizagoes que consultasse aos estados merabros acerca da conveniencia de reunir uma Conferencia iiiternacional sobre os problemas do co mercio mundial,
A mencionada Conferencia de Genebra, que se reuniu na dita cidade, de

23 de margo a 15 de junho de 1964, e na qual participarara 120 paises de todo o mundo, nao se distinguiu precisamente por haver obtido acordos espetaculares que resolvessem a curto prazo os problemas tratados ncla.
Os paises participantes foram, por ordem aifabetica, os seguintes: Afgaiiistao, Albania, Alto Volta, Arabia Saiidita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboja, Camerun. Canada, Ceilao, Colombia, Congo (Brazzaville). Congo (Leopoldville., Costa de Marfira, Costa Ri ca, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chi le, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca. Equador, Salvador, Espenha, Estados Unidos da America, Etiopia, Filipinas, Finlandia, Franga, Gabao, Gha na, Grecia, Guatemala, Guinc, Haiti, Honduras, Hungria. India. Indonesia, Irak, Ira, Irlanda, Islandia, Israel, Ita lia, Jamaica, Japao, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libano, Liberia, Libia. Liechstenstein, Luxemburgo, Madagas car, Malaia. Mali, Marrocos, Maurita nia, Mexico, Monaco, Mongolia, Ne pal, Nicaragua. Niger, Nigeria, Noruega. Nova Zelandia, Paises Baixos. Paquistao. Panama, Paraguai. Peru. Poionia, Portugal, Reino Unido da Gra Bretanha e Irlanda do Norte, Repiiblica Arabe Unida. Repiiblica Centroafricana. Republica Dominicana, Republica Federal da Alemanha, Republica da Coreia. Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia, Republica Socialista So vietica da Ucrania, Republica do Viet nam, Rumania, Ruanda, Sao Marino. Santa Se, Senegal, Serra Leoa. Siria, Africa do Sul, Sudao, Suecia, Suiga. Tailandia, Xanganica. Togo, Trinidad e Tobago. Tunis, Turquia, Uganda, Uniao das Repiiblicas Socialistas Sovieticas. Uruguai, Venezuela. Yemen, Jugoslavia e Zanzibar.
O que se conseguiu sim e que as economias subdesenvolvidas formassem um grupo coerente de 77 nagoes (praticamente todos os paises pobres da Asia, Africa e Iberoamerica), para de fender sens legitiraos interesses, e que se criasse um mecanismo institucional permanente que mantivesse vivo, no futpro^ Q espiritg e a agao reivindicatoria 44.
que inspirou a convocatona da Confe-rencia.
£ste mecanismo institucional esta representado, em primeiro lugar, por uma Conferencia periodica e por uma Junta de Comercio c Desenvolvimento, as quais se atribui o carater de orgaos da Assembleia Gcral das Nagoes Unidas.
A Junta, cuja sede atual e Genebra, esta formada pelos delegados de 55 na goes, eleitos pela Conferencia, dos quais a maioria, concrctamente 31. pertenceni aos paises subdesenvolvidos.
Nestas condigoes, os paises subde senvolvidos nao tem outra alternativa, para meihorar sua situagao economica a curto pcdzo. scnao a de se esforgarem por si mesmos em modificar suasrigidas estruturas produtivas atuais mediante pianos economicos nos quais o* elemento compulsive predomine sobrc: o indicative.
O [inanciamento das exportagdes na Espanha se realiza atraves das seguin tes linhas especiais:
O financiamento das exportagbes corre, em principio, a cargo do Banco privado, a que assiste o Estado num duple sentido:
— Por um lado, assume os riscos inerentes a tal classe de operagoes atraves da Companhia Espanhola dc Secures dc Credito c Caugao, que cobre OS riscos comerciais, e o Consorcio de Compensagao de Seguros, que assu me OS riscos politicos e extraordinarios.
— Por outro lado, resolve o problcma da liquidez atraves do Instituto de Credito a Medio e Lonffo Prazo, a que esta facultado autorizar o redesconto pelo Banco da Espanha. por 100 por cento de seu valor, dos efeitos repre sentatives dos creditos que conceda a Banca para financiar operagoes de exportagao.
Se, apesar destas ajudas, a Banca privada nao colaborar na medida neces.saria, o exportador nao fica desamparado, pois o Banco de Credito In dustrial esta autorizado a financiar exportagoes. dispondo da adequada dotagao para o case.
Assim, pois, tanto a Banca privada como 0 Banco de Credito Industrial
podcm ir em socorro dos exportadores para facilitar-lhes a resolugao dos pro blemas de tesouraria que Ihes suscitam as vendas ao estrangeiro e que, esqucmaticamente. sao os seguintes:
I) FINANCIAMENTO DO PERIODO DE FABRICACAO
Existem duas modalidades destinadas a satisfazer duas classes distihtas de necessidades:
a) Creditos para a constituigao de astoques com destino a exportagao
Quando se trata de bens que se proQuzem em serie nao se podc pretender estabelecer uma conexao entre os cre ditos que se concedem e cada uma das Operagoes concretas de exportagao, O procedimento que estabelece a Portaria Ministerial de 12 de junho de 1963 consiste em atribuir, para um pe'iodo de 12 meses, iim maximo de cre ditos determinado em fungao do volu me de exportagao do ano anterior.
Embora em principio os beneficios e tal disposigao so fossem de aplicaSao aos bens de equipamento, o Insti tuto dc Credito a Medio e Longo Pra'o cstendeu sua aplicagao a uma vasta Serie de bens de consume que incorpofam uma aha percentagcm de mao-de-obra.
O limite maxima de credito e igual
3 20% das exportagoes efetuadas no ano anterior, percentagem que pode ser ampliada, e de fato o tem sido em va ries cases, quando se trate de produ?oes de ciclo dilatado. Tratando-se de livros, o limite maximo ascende a 55% (Portaria Ministerial de 13 de feverei~ ro de 1963).
A recente Portaria de 19 de nouembro de 1966 precisa. com carater geral, algumas das vantagens estabelecidas pelo artigo terceiro do Decreto 738 de 1966, de 24 de margo, sobre «Carteira de Exportador* e dispoe, em combina?ao com a Portaria de 12 de junho de 1963, o estabelecimento, a favor dos titulares da Carteira, de um limite ma ximo de credito de 10% para aqueles produtos expoxtaveis aos que nao se

tenha estendido a aplicagao dos bene ficios de dita Portaria, e 10% adiciona! no case de que se trata de bens que ja desfrutam dos mesmos. Nas ex portagoes de livros o aumento adicional e de 5% .
fistes creditos obtem juros de 4,5% e tem vigencia durante o periodo de doze meses compreendido entre 1^ dc abril e 31 de margo de cada ano.
b) Prcjinanciamento dc exportagoes com pedido definitivo
Os exportadores podem, com amparo d o disposto no paragrafo 1^ do niimero 1 da Portaria Ministerial de 14 de [eucreiro de 1963. obter um credito equivalente a 80%) do prego dos navios, maquinaria e bens dc equipamen to em geral que fabriqucm, com previo pedido definitive, com destino a expor tagao,
Os titulares de «Carteira de Expor tador* podem obter um aumento de 5% adicional a dita percentagem.
&ste credito permite aos exportado res financiar os gastos necessaries para a aquisigao de materias-primas, despesas de jornais, etc., que requeira a execugao dos pedidos obtidos do estran geiro.
O vencimento coincide com a data de entrega das mercadorias e adquire juros de 4,5%.
A tramitagao desfes creditos se rea liza, conjuntamente, com os destinados ao financiamento do prazo de pagamento dc que trata a epigrafe seguinte.
Quando as condigoes vigentes nos mercados intemacionais impoem a venda a credito, os exportadores podem socorrer-se, para o financiamento do prazo de pagamento dos bens exportados, dos beneficios da Portaria Minis terial de 14 de feverclro dc 1963. que facilita a mobilizagao da parte aprazada do prego de venda dos navies e grandes reparos de navies estrangeiros, maquinaria e bens de equipamento de todas as classes vendidos nos mercados
2) FINANCIAMENTO DO PRA ZO DE PAGAMENTO.externos, assim como dos estudos, projetos e presta?ao de assistencia tecnica ao estrangeiro.
O credito maximo que se pode conceder e de 80% do prego combinado, com a salvaguarda que se fez na epigrafe anterior, relativa aos tituiares de «Carteira de Exportador», devendo amortizar-se no prazo de cinco anos, contados a partir da entrega dos bens exportados, podendo o Instituto de Credito a Medio e Longo Prazo amplia-lo, quando convier ao interesse nacional.
Como nos casos anteriores, o tipo de juros e de 4,5% ao ano.
Nao obstante, quando se tratar de servigos comerciais que nao solicitam credito para as finalidades a que se refere o paragrafo anterior, o financia mento do stock podera ampliar-se ate 30%, fistes creditos tem duragao de um ano ou fragao e carater renovavel.
Os limites maximos citados podem experimentar um aumento em 5% adicional, quando se tratar de tituiares de «Carteira de Exportador»,
4) CRfiDITOS A EMPRfiSAS EXPORTADORAS PARA FORMAgAG DE DEP6SIT0S.
Consultorio Tecnico
Os esclarccimentos publicados nesta segao representam apcnas opinioes pessoais dos seus autores.
Com objetivo de ampiiar quanto possivel a rede comercial externa, foi inspirada a Portaria Ministerial de 3 dc julho de 1964, substituida pela de 29 de dezembro de 1965, que facilita o financiamento de servigos comerciais privados no estrangeiro.
Atraves dela pode-se financiar o estabelecimento de novos servigos, a aquisigao de servigos comerciais ja e.xistentes, e o stock de produtos espanhois que se mantenham neles.
O limite maximo de credito, no caso de estabelecimento de novos servigos comerciais, podera ascender ate 50% do capital subscrito e desembolsado pelos exportadores espanhois que os constituain.
Tratando-se de servigos comerciais ja existentes, 50% de financiamento maximo girara sobre o prego de aqui sigao dos mesmos.
Em ambos os casos, os creditos deverao amortizar-se, como maximo, em cinco anuidades iguais, embora se possa autorizar que a primeira delas nao venga ate dois anos, contados a partir da entrega dos fundos. 0 tipo de ju ros aplicavcl e, como no caso sequinte 0 de 4,5% , O stock de produtos espanhois que se mantenha nos servigos comerciais podera ser financiado ate 20% do seu valor medic anual.
Como 'medida complementar de fomento das exportagoes, e para satisfazer a necessidade sentida por determinadas firmas exportadoras de dispor de depositos para armazenamento de stocks em lugares proximos aos ponto-s de embarque que sirvam de reguladores de suas exportagoes, a fim de obter maior rapidcz e incremcnto destas, expediu-se a Instm^Ho Ministerial dc 26 de [ei'crciro de 1964, segundo a qua! c Instituto de Credito a Medio c Longo Prazo podera encomendar ao Banco Hipotecario da Espanha a instrumentagao de creditos, a 6,5% de juros, n erapresas exportadoras para financiar a formagao dos aludidos depositos, por uma importancia maxima de 70'% das novas inversoes, com um prazo maxi mo de amortizagao de dez anos.
Os tituiares de «Carteira de Exportador» podem obter um aumento da importancia maxima em 5% adicionalNos Bolctins Oficiais do Estado de datas, 8, 9 e 10 de margo de 1967, , publicou-se a primeira lista das FirmaS as quais foi facultada a chamada «Caf teira de Exportador.»
Esta corrente de credito esta franqueada, por ambos os lados, por duas linhas paralelas que Ihe dao cobertura^ face aos eventuais riscos originados po^ razoes politicas ou comerciais. O 5cgnro de Credito a Exportagao protege e estimula o esforgo de nossos empresarios internacionais.
(Traduzido por Jose Alves) (Continua)
iW.L. Seixas (Franca — S.P.) — sComo teinos tido duvida no aplicar o que dispoe n 'etra b do .'ubitem 1.22 da Recstruturacao do Art. 15 da TSIB, vimos submctcr a apreciaVao dc V. Sas. a segiiinte qucstao; «pode-sc classificar como sendo de construgao superior OS prcdios de I e 2 pavimentos quo, possuinforro de lajes prc-moldadas (lajotns) tcni, no entanto, suas coberturas asscntadas sobre travejamento de madciras?». Entendcinos que lossa duvida se justifica porquc quando a tarifa quer se referir a lajes prc-inoldadas ela o faz — vide Ictra a do subitcm 1.21
sao na redagao do texto da alinea b do subitem 1,22 do art. 15 da TSIB.
A laje prc-moidada « considcrada como equivalente a laje de concreto armado para fins de classificagao tarifaria. conforme opgao constante da letra b do item 1, letra c do subitem I. l e letra a do subitem 1 .21. Esclarego. ainda, que a laje pre-moldada, embora apresente resistencia mecanica inferior, apresenta resistencia ao fogo igual ou superior a laje de concreto armado.

Encaminhamos a consulta ao Sr. Arfnando Mello, Assessor Tecnico da Divisao Incendio c Lucros Cessantes do IRE, que apresentou os seguintes esclarecimentos;
«A duvida do consulente tem cabiniento, considerando que houve omis-
Assim. podem-se classificar como sendo de construgao superior os pr-edios de 1 e 2 pavimentos que, atendidas as dcmais exigencias no art. 15 da TSIB. possuem forro de lajes pre-moldadas e assentamento dc suas coberturas sobre travejamento de madeira.»
RELAT6RIO DAS ATIVIDADES DE 1968
RETIFICACAO
3) FINANCIAMENTO DE SERVigOS COMERCIAIS PRIVADOS NO ESTRANGEIRO.R.C. Obrigatdrlo de Automoveis:
Relatdrio dd.s atividade.'; do di- Premios dc resscijuro.'^ NCrS vulgado na Revista n'' 175. junho de 1969. _ ..
dfve scr fcita a scguintc retifica^ao no quadro Facultativo
publicado a pagina 3: Obrigatorio 17. H6.85-1,72
Dados estatisticos
Contribuigao da Divisao de Planejamento e Mecanizasao do I.R.B*
BALANQO DAS SOCIEDADES DE SEGUROS
Os quadros publicados a seguir sac .xesukantes dos levantamentos feitos com OS balangos das Sociedades de Seguros em 31 de dezembro de 1968 e referem-se aos titulos do Ativo e do Passive, questionarios II e 12 do piano de contas em vigor. Foram apurados dados de 197 Seguradoras, discriminadamente por grupos, conforme consta do quadro n' 2.

O quadro n'> 3 apresenta o resuffl" dos mesmos dados no- qiiinqiien'® 64/68. Completam a scrie indices ^ percentagens, possibilitando a observa* ?ao de seu comportamento no periodo-
O numero de sociedades e o moH' tante do Ativo e do Ativo medio mercado, com discriminagao para 0® Ramos Elementares, Vida c Acidente^ do Trabalho. nos liltimos cinco an®®' figuram no quadro n*? 1.
Tres poderes
Executive
COBERTURA DE BENS DO INPS. IPASE ESASSE
DECRETO-LEI N' 528 — DE DE ABRIL DE 1969 11

O Presidente da Republica baixou Decreto — n') 528, de 11-4-69, dispondo sobre a cobertura de bens pcrtenccntes ao INPS, ao IPASE e ao SASSE. Sao OS seguintes os termos do referido Decreto:
«Art. P' — O Institute Nacional de Previdencia Social, o Institute de Previdencia e Assistencia dos Servidores do Estado e o Servigo de Assistencia e Seguro Social dos Economiarios, para a cobertura de seus bens contra os riscos mencionados nas alineas ^ e h do artigo 20 do Dccreto-Iei n'' 73, de 21-11-66, adotarao, em lugar dos seguros obrigatorios a quc se referem as mencionadas alineas, a constituigao de fundos especificos, com recursos proprios, ressalvado o disposto no arligo
Art. !■' — Quando a instituigao de que trata o artigo 1" lor acionista ma-
joritaria de companhia de seguros criada nos termos do artigo 143. do mencionado Decreto-lei n- 73. podera a cobertura dos mesmos riscos ser feita mediante seguro direto naquela seguradora, dispensada, era tal case, a exigencia do sorteio a que se refere o arti go 23 do citado decreto-lei.
y< O Ministro do Trabalho e Previdencia Social regulamentara dentro de 60 (sessenta) dias a constituigao dos fundos a que se refere o ar tigo !'.»
(D.O. de 14-4-69).
DECRETO-LEI REGULA UQUIDAQAO DA CIA. DE SEGUROS AGRICOLA
O Diario Oficial de 11-6-69, publicou 0 Decreto-lei iv 619, de 10-6-69, que dispoe sobre a liquidagao da Com panhia Nacional de Seguro Agricola.
O IRB ficara — apos o termino da liquidagao — iiistituido como representante da empresa extinta, para a solugao dos residuos de responsabilidades
supervenientes. ficando os onus correspondentes referidos a conta do Fundo de Estabiiidade do Seguro Rural.
DECRETO-LEI N" 619 — DE 10 DE JUNHO DE 1969
«0 Presidente da Republica, usando da atribui^ao que Ihe confere o § I? do artigo 2- do Ato Institucional n'-' 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista o disposto no artigo HI do Decreto-lei n" 73, de 21 de novembro de 1966, decreta;
Art. l- Pica a Companhia Nacional de Seguro Agricola, em liquidacjao, aiitorizada a debitar ao Fundo de Estabilizagao previsto no artigo 3" da Lei n'> 4.430, de 20 de outubro de 1964;
a) o montante das indenizagoes trabalhistas asseguradas aos empregados da empresa, na forma da lei;
b) o valor correspondente a complementa^ao da quantia dos imbveis de que trata o artigo 4'-' da presente lei;
c) as despesas administrativas decorrentes da liquida^ao da sociedadc, devidamente aprovada pela autoridade competente.
Art. 2-' O saldo da dota?ao orqamcntaria prevista no item 1, do artigo 21, da Lei n" 4.430, citada, sera incorporado ao patrimonio da empresa liquidanda deduzindo-se e levando-se a subscri^ao do Tesouro Nacional o va lor correspondente a subscri^ao das sociedades seguradoras que nao co-participaram do aumento do capital social da Companhia Nacional de Seguro Agricola, de que tratam os Decretos ns.
55.899, de 7 de abrii, e 56.873, de 15 de setembro, ambos de 1965, promovendo-se no livro proprio as altera(;oes necessarias.
Art. 3'-' Encerrada a liquidagao da Companhia Nacioniil de Seguro Agricola, em liquida^ao, na forma do artigo 144 do Decreto-iei n- 2.627, de 26 de setembro de 1940, ficara o Institute de Resseguros do Brasil como Representante da empresa extinta para a solugao dos rcsiduos de responsabilidades porventura supervenientes, correndo os onus correspondentes, se for o caso, a conta do Fundo de Estabiiidade do Se guro Rural, de que trata o artigo 142 do Decreto-Iei n- 73, de 21 de novem bro de 1966.

Art. 4" Fica o Poder Executive autorizado a receber o valor de sua pacticipagao acionaria na Companhia Nacio nal de Seguro Agricola, em liquidaqaoem bens imovels e moveis, do patrimo nio da mesma, conforme os valores que vierem a ser apurados, ouvido o orgao competente do Minist-erio da Fazenda.
Art. 5" O saldo das dota^oes orgamentarias consignados, em exerclcios anteriores nos subanexos do Ministerio da Agricultura, ora em poder do Fundo Federal Agropecuario, em favor da Companhia Nacional de Seguro Agri cola, em liquidagao, sera imediatamente transferido a sociedadc, para, apos as dedu^oes previstas na presente lei, ser incorporado ao Fundo de Estabiiidade do Seguro Rural, na forma do artigo 142, do Decreto-lei n- 73, de 21 de novembro de 1966.
Art. 6- fiste decreto-lei entrara eni vigor na data de sua publicaqao, revogadas as disposigoes em contrario.
BANCO CENTRAL BAIXA NOVA RESOLU^AO S6BRE APLICAgAO DE RESERVAS TRCNICAS
Atraves da Resoluqao iv' 113. de 28 de abril de 1969, do Banco Central do Brasil — abaixo transcrita — o ConseIho Monetario Nacional baixou novas disposiqoes sobre a aplicagao das rescrvas tecnicas das sociedades segurado ras, consolidando as normas contldns nas Resoluqes ns. 92 e 110. respectivamente. de 26 de junho de 1968 e 13 de feverciro de 1969.
RESOLUCAO N' 113
0 «Banco Central do Brasil. na for ma do art. 9\ da Lei n" 4.595. de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o Conselho Monetario Nacional. em sessao realizada em 24 do corrcnte, tendo ein vista as disposiqoes do art. 28 do Decreto-lei n" 73. de 21 de novembro de 1966.
Resolvcu:
1 — As diretrizes de aplicagao das reservas tecnicas constituidas pelas so ciedades seguradoras de cicordo com os criterios fixados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, estabelecidas pelas Resoluqocs ns. 92 c 110, de 26 de junho de 1968 e 13 de fevereiro de 1969, respcctivamente, pas.sarao a obedecer as disposigoes desta Resoluqao.
If — As reservas tecnicas constitui das na forma do item anterior, s6 poderao ser empregadas nas scguintes modalidades de investimentos ou depbsitos:
a) Obrigaqoes Reajustaveis do Te souro Nacional ou Letras do Tesouro Nacional;
b) depbsitos em bancos comcrciais ou de investimentos, ou cm caixas econbmicas;
c) agbes, ou debentures conversiveis em aqbes, de sociedades de capital aberto, negociaveis em Bblsas de Valores e cuja cotaqao media aiiual, nos ultimos 3 (tres) anos, nao tenha sido inferior a 70% (setenta por cento) do valor no minal; ou aqoes novas, ou debentures conversiveis em agbes, emitidas por empresas destinadas a cxploraqao de indiistrias basicas ou a clas equiparadas por lei, registradas especificamente para esse fim no Banco Central do Brasil;
d) imbveis urbanos, nao residenciais, situados no Distrito Federal e nas capitals ou principals cidades dos Estados e Territbrios;
c) emprestimos com garantia hipotecaria sobre os imbveis de mic trata a alinea anterior, ate o maximo de 80% (oitenta por cento) do respective va lor;
[) direitos resultantes dc contratos de promessa de compra e venda dos imbveis referidos na alinea «d»;
g) participnqbcs em operaQoes de fmanciamento,-eoin correqao monetaria, rcalizadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econbniico.
JII Por conta das reservas tecni cas a serem constituidas no exercicio de 1969, deverao as sociedades segurado ras, no periodo comprcendido entre abril de 1969 e marqo de 1970, ndquirir — diretamente no Banco Central, ou nos agentes por este indicados — Obrigaqbes Reajustaveis do Tesouro Nacio nal, ou Letras do Tesouro Nacional. em valor equivalente a pelo menos 50% (cinqiienta per cento) da diferenqa entre o montante global das reservas tecnicas, nao comprometidas, apiiradas no balango de 1967 e o das apuradas no
balance de 1968, distribuindo-sc o restante entre os demais tipos de aplica^oes previstos nas alineas «b» a «gs> do item II, observado o disposto nos itens VI e VII.
IV — A siibscri^ao a que se refere o item anterior devera ser realizada em cotas mensais e iguais a I/I2 (um doze avos) do total a subscrever no pen'odo.
V — Para as carteiras de seguro de vida, individual, sera de 30% (trinta por cento) a percentagem refcrida no item III, mantido, contudo, o criterio de aquisigao fixado no item precedcnte.
VI — Nas aplica^cs previstas na parte final do item III, sera de 30% {trinta por cento) do respective total parcial o limite maximo para cada urn dos tipos de investimento ou deposito all referidos, considerando-se engiobadamente, para esse fim, as aplicagoes mencionadas nas alineas «d», «e» e «f» do item II, admitida, porem, a exclusao de imdveis de uso prdprio das sociedades seguradoras, ou seja, aqueles efetiva e exclusivamente utilizados por dependencias da sociedade.
VII — Nas aplicagoes de que trata a alinea «c» do item II, nao podera haver conccntragao superior a 5% (cinco por cento) do montante global cm titulos de uma mesma empresa; nem, em nenhuma hipotese, participagao em agoes de quaiquer empresa, em montante superior a 10% (dez por cento) do respectivo ca pital, observada, ainda. no total das aplicagoes, a regra estabelecida no item I da Resolugao n" 53, de 11 de maio de 1967.
VIII — Com relagao as reservas tecnicas apuradas ate dezembro de 1967, as sociedades seguradoras poderao continuar observando as diretrize.s de apiicagao constantes das normas regulamentares anteriores a vigencia da Re solugao n'' 92, de 26 de junho de 1968.
IX — Ficam revogadas as Resolugoes ns. 92 e 110, de 26 de junho de 1968 e 13 de fevereiro de 1969, respectivamente,»

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1969. — Ary Burgcv, Presidente, em exercicio. Judliciario
BENVINDA RODRIGUES DOS SANTOS — A^AO ORDINARIA
— SIN. 330.02-1
O acordao que se segue ocupa lugar impar na jurisprudencia brasileira. A velha e bem latina condescendencia com OS raortos nao afina com o rigor no julgamento do suicidio, Vencendo preconceitos conuins con tra as seguradoras e realizando julga mento bem objetivo, o Colendo Tribu nal de Justiga da Guanabara concluiu categoricamenle tratar-se, no caso, de suicidio consciente, voluntario, propositado, com o qual a vitima pretendia a custa da prdpria vida — fraudar as companhias de seguro de vida e de acidentes pessoais,
A analise que o Tribunal fez dos elementos probantes, a forma porque venceu a dificuldade oposta com o desaparecimento do projetil de dentro de uma caixa fechada, como e o cianio, pode servir de modelo para os juizes sempre preocupados na apreensao da verdade.
rado, s6 poderia resultar de um tiro desfechado com o cano de uma arma de fogc encostado no orificio do conduto auditivo e estando a versao de suicidio voluntario amparada por uma serie de indicios e circunstancias, e de ser considcrada como suficientemente provada essa versao, O suicidio voluntario do segurado como excludente da exigibilidade do .seguro, Improcedencia da agao.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelagao Civel n" 47.425, em que sao apelantes Sul America Cia. Nacional de Seguros de Vida e outros e Sao Paulo, Cia. Nacional de Seguros de Vida e outros, sendo apelada Benvinda Rodrigues dos Santos e outros:
Acordam, por maioria, os Juizes da 4^' Camara Civel do Tribunal de Justi ga do Estado da Guanabara em dar provimento aos recursos das res apelan tes, para, reformando a sentenga de 1' instancia, julgarem improcedente a agao, condenados os autorcs em honorarios de NCr$ 100,00. Custas como de lei. Vencido o eminente Des. Horta de Andrade, reviser que negava provi mento,
Assim decideni, integrando no prcsente o relatdrio de fls. 55S/9 pelas razoes seguintes:
O ponto central da controvcrsia resi de na natureza da morte do segurado.
Sustentam os autores, vitiva c filhos destc, apoiados na versao do prdprio segurado, que sobreviveu varias horas ao ferimento que Ihc causou a morte, que tal ferimento foi acidental.
tivo cxterno direito, com fratura do rochedo, conforme consta da certidao de 6bito a fls. 17.
Ja as res, apelantes, asseguram que seria inteiraraente impossivel que um pedago de pau pudesse produzir, ao penetrar no ouvido do segurado, lesao tao grave quanto a da fratura do rochedo.
E encontram bom apoio para assim afirmarem no laudo de exame cadaverico que foi procedido dois meses e meio ap6s o obilo do segurado, cujo corpo foi exumado, para esse fim, por detcrminagao da autoridade policial da Pa raiba e realizado por dois legistas do Estado da Guanabara. devidamentc requisitados, fissc laudo, que se encontra a fls. 65 do 1"' volume e, realmente, bem conclusivo no sentido de afastar a casualidade ou a acidentalidade da lesao que produziu a morte, pelo menos nas condigoes descritas pelos autores.
Notaram os peritos que o pavilhao auricular direito do cadaver mostravase integro, com sua forma normal, o derma liso, sem lesao ou destruigao fls. 65v. Tambem sem lesao, com seu contorno liso, se apresentava o rebordo do orificio externo, do conduto auditivo direito.
A ccrca de um ccntimetro para den tro, nesse conduto, encontraram os le gistas fragmento.de- esparadrapo de I cm de largura, dobrado e impregnado de liquido organico. E verificaram que na parede superior do conduto, um centimetro para dentro do orificio externo, havia ferida alongada, com 1 cm de diametro que se aprofunda ate o piano osseo, rochedo, onde se percebe solugao de conlimiidade ossea, situada para dentro c para cima da ferida assinalada.
TRIBUNAL DE JUSTIQA
DO ESTADO DA GUANA
BARA
APELAgAo ClVEL N'-' 47,425
Seguros de vida e de acidentes pessoais.
Verificado, pericialraente, que a lesao que causou a morte do segu-
Ocorreu no momento em que o se gurado, tendo tido vontade de tomar um banho de mar em praia do Estado da Paraiba, mergulhou em local em que existira um velho curra! de peixes. Ao mergulhar, um pedago de pau pcnetrou em seu ouvido direito, ferindo-o. Socorrido por pescadores, que o encontraram na praia, foi levado a um hospi tal, onde foi tratado, vindo a morrer horas depois em razao de «embolia ce rebral ferida contusa no conduto audi
Na inspegao interna foi verificado que a solugao de continuidade ossea interessa toda a espessura do rochedo e estabelecc comunicagao cntre a ferida da parede superior do conduto auditivo direito e a cavidadc craiiiana.
Solugao de continuidade tambem apresentaiam a dura mater da base do cranio, na parte correspondente a face antero-superior do rochedo direito e a
propria base do cranio ao iiivel da face antero superior direita, com destriiiqao do teto da caixa do timpano (tegmen timpani) e tambem do terco externo da face antero-superior da por<;ao petrea do rochedo, extraordinariamente mais resistente do que a primeira. Ao nivel dessa lesao, que corrcsponde a fratura cominutiva. nao se encontram esquiroias osseas, nem os ossos proprios do ouvido, possivelmente removidos na necropsia anterior,
E face ao que apuraram, os legistas negam terminantemente a possibilidade de haverem sido as lesoes provocadas pela introdu^ao acidental de um pan fino ou de fragmento de madeira no ouvido do segurado, ociipando-se, com detalhcs. em descrcvcr os motives de sua conclusao — fls. 67v.
Entre esses, destaca-se a experiencia, que ficeram, de tentativa de penetraqao de instriimentos perfuro-contundentes no ouvido esquerdo do cadaver, nas mesmas condiqoes em que teria havido aqtiela penetraqao no ouvido direito.
So o conseguiram com um bastao de ferro, ligeiramente afilado, com 6 mm de diametro e 13 cm de comprimento, e, mediante golpes dados com um martelo, sendo que a penetra^ao so se deu no quinto golpe, e assim mesmo, apenas no teto do timpano, sem atingir o ro chedo. E. apesar disso, a retirada do instrumento so foi possivel mediante golpes de martclo dados, de dentro para fora. na extremiclade que havia transfixado o teto do timpano.
Dai a conclusao de que os ferimentos so poderiam ter sido causados pot projetil metalico de propulsao e rotaqao, o que veio a ser confirmado pelos exames quimico c espectografico que acusaram a presenqa de poeira de chumbo no pavilhao auricular ao redor do conduto auditivo.
O confronto desse iaiido coin o do exame que foi realizado no dia do 6bito pelos subscritores do laudo de necropsia de fls. 19 do D volume, nao deixa diivida sobre a nenhuma valia deste, para excluir a verdadeira causa das lesoes.
Essas, em suas iinhas gerais foram apuradas pelo laudo de fls. 19, que
descreve ferida perfuro-contusa do con duto auditivo externo direito com fratura exposta do rochedo homologo. com referencia a fratura cominutiva do «tegmen timpaiii».
Nenhuma preoctipagao teve o medico necropsista em apurar a nianeira pela qual se produziu a ferida perfuro-con tusa que descreve.
Quanto ao exame cadaverico feito na Poiicia da Paraiba — fls. 18 — este e ainda muito menos precise, pois aceita a notoriedade do aciciente que teria sido sofrido pelo segurado. como base para a conclusao de que este faleceu em razao do acidentc.
Quanto as conclusoes do necropsista e do medico assisteiite do segurado nas respostas que deram ao questionario de fls. 21/22, so poderiam ter alguma relevancia as relativas ao 9" quesito, que versam sobre a impossibilidade de suicidio e a possibilidade de acidentc.

Nossa resposta so se cogita da penctragao de um instrumento perfuro-contuso (sic) para concluir que nao seria possivel essa penetraqao voluntaria; e da possibilidade de acidente, resultante de queda.
Ja se viii, todavia, que o laudo de fls. 65 exclui de mode absoluto a viabilidade da penetra^ao acidental de qiiaisqtier instrumentos, convencendo dc que a lesao so pode ter resultado de um tiro por aniui de fogo,
O que pode causar espccie e o fato de nao haverem os legistas encontrado o projetil que penetrou no cranio do segurado.
Mas tambiim nao encontraram os ossos do ouvido e retiraram esparadrapo do ouvido direito do cadaver.
E encontraram o cerebro inteiramente seccionado e reduzido a pequenos fragmentos.
De notar-se que na necropsia de {6Ihas 19, realizada no dia do obito, aleni da lesao que causou a morte encontrou o medico que a realizou uma ferida incisa na regiao mastoidiana deste mesino (ado com seis centimetres de extensao, acompanhando o sttlco retro auricular, com OS bordos aproxiniados por pontos metalicos.
Essa mesma incisao foi encontrada pelos legistas do Institute Medico Legal da Guanabara — fls, 65v que a definiram como via de ace.sso ao conduto au ditivo externo. que se acha seccionado transversalmcnte.
O que indica que, antes do obito, foi praticada intervengao ciruigica — e nao apenas simples curativos, pelo medico que atendeu o segurado falecido.
Nesta opcragao, ou na necropsia, o projetil foi, sem diivida, retirado .intcncionalmente ou nao. mas o ccrto c que 0 foi.
E e estranho que os m-edicos qim examinaram o segurado c o sett cada ver nao tenham sequer abordado a pos•sibilidade que a qiialquer leigo ocorreria, de se tratar de ferimento a bala.
Nem mesmo quando pergiintado so bre a hipotese do suicidio aventaram essa possibilidade.
Excluiram o suicidio e inciinaram-se pelo acidente porque ninguein poderia intencionalmente introduzir um instru mento pcrfuro contuso no ouvido fl.s. 165 e 22 com a violencia e a forqa necessarias a prodiu;ao de lesoes morlais.
H entao, por isso, concluiram que So de queda sobre um instrumento ponteagudo poderia resultar a lesao.
Nem ao menos como hipotese aven taram a possibilidade de tratar-se de um tiro. Nem para exclui-la, pelo clesaparecimeiito do projetil.
E. no entanto. o certo. o positivo, o que esta realmente provado e que o acidente tal como descrito nao poderia, de niodo algum, ter ocorrido.
Dai resulta a conclusao evidente, fundada em prova plena, de que a morte do segurado resultou de um tiro no ouvido. com o cano de arnia de pequeno calibre introduzido intencionalmente no orificio externo do conduto auditivo, com o afastamento do tragiis. que licou intacto, o que nao poderia ocorrer de outra forma.
E tais circiinstancias demonstram que so o proprio segurado poderia desfechar esse tiro, num ge.sto dos mais freqiientes entre os suicidas.
Logo, o que esta provado e que o segurado cometeu suicidio, nao podendo prevalecer a conclusao da senten<;a de que apenas foram levantadas suposiqoes ou suspeitas a tal respeito, que nao podem afastar a ocorrenda de aci dente tal como foi relatado as autoridades policiais.
0 que. ao contrario, resulta dos autos e a impossibilidade absoluta de um acidente tal como o descrito.
As testemunhas de fls. -101/5 do 2' uolume. em que se apoia a sentenqa. apenas referiram o que ouviram qurado logo que o socorreram Relato que nao merece qualquer credibilidade em face da prova pencial concludenle cxistentc dos autos.
Tambem nao pode merecer a valia que Ihe rcconheceu a senteiuja o dcpoimento de fls. 167, como explica?ao para a presenga de p6s metalicos no pavilhao auricular do segurado.
£sse depoimento, muito ao contrario. nao serve senao para por em destaque a tendcncio.^idade da testemunha. que e o medico que fez curativos no segura do Pois que nao ha. evidentemente, possibilidade alguma de convencer a qucm quer que seja que de um instru mento ciriirgico se possam desprendei pos metalicos, especialmente de origcm pluinbea.
Assim a fundanicntaijao da senten^a. com linico apoio em tao precarios clementos de provti. nao pode merecer aceita^ao.
Pois a prova convence de que houve. de fato. o suicidio do segurado.
Firmado esse ponto, cumpre aprcciar 5C o suicidio foi preineditado, como pretendem os apelantes, ou foi involuntario. ou incnnsciente. para o efeiio de decidir sobre a exigibilidade do seguro.
Certo que para concluir pela versao dos apelantes. cumpre consideuar se provaram eles a causa excludente da obrigagao, no? termos do par.agra{o Cinico do art. 1440 do Codigo Civil.
A prova Ihes incumhc, sem diivida, e. no caso, a fizeram.
Provaram o suicidio e trouxeram os autos iiidicios veementes e circunstan-
cias que convencem da premeditagao do segurado no suicidio que cometeu.
As causas estao evidenciadas no processo administrative em apenso do qiial se ve que contra o segurado foi apurado, alem de um desfalque, o envolvimento em operagoes ilicitas e crirainosas em elevado montante, cuja sobran^a ja se iniciara quando ocorreu a sua morte. — fis. 20 e 51 do apenso.
A premeditagao e evidente. Seguros foram renovados dias antes da morte em quantias muito superiores ao das apolices renovadas — fls, 42 e 60, quando em plena apuragao o desfalque praticado.
Evidente tambem a simulagao do acidente. Simulagao que o segurado manteve ate mesmo depois de ferido gravemente, numa demonstra^ao de sua lucidez de espirito, o qqe afasta a hipotese de um gesto de inconsciencia,
Assim forgoso e convir na volimtariedade e na plena consciencia com que o segurado procuroii a morte, insistindo na simulaqao para excluir a clausula segimdo a qual o suicidio nao estava coberto pelos seguros, vultosos na epoca, que teve a cautela de contratar.
For esses motives, ante a disposigao e.xpressa do art. I .440, paragrafo linico do Codigo Civil, sobre cujo cntendimento nao ha diivida possivel {coiiferir Clovis, com, ao art. 1.440; Joao Luiz Alves, idem; Carvalho Santos, Ccdigo Civil Brasileiro Comentado, vol. XIX, pag. 286; Pontes de Miran da. Tratado, vol. 46 § 4.960, n" 8) e o forQoso reconhecimento da voluntariedade do gesto do segurado, pois, nada. nos autos, sugere qualquer atitude resuitante de perturbagao mental, imp6e-se o provimento dos recursos para o efeito de ser julgada improcedente a a^ao.

Deixa-se de determinar a apuragao da responsabilidade criminal dos me-
dicos que procederain aos exames do cadaver do segurado, na data de sen 6bito por estar prescrito o delito que. porventura, hajam praticado — art, 342 e 109 XV do Codigo Penal, mesmo que contado o piazo do depoimento de fls. 167 do 2'-' volume.
Rio de Janeiro, GB. 18 de agosto de 1966. — Oscar Tenorio, Presidente. Reiator: Salvador Pinto Filho; Hoita de Andcadc, Vencido.
Acordao de fls. 623
Embargos de Nulidade e Infringente.-^. Seguro de vida e de acidentes pcssoais. Verificado, pericialmente, que a Icsao que causou a morte do segurado, s6 poderia resultar de um tiro desfechado com o cano da arma de fogo encostado no orificio do conduto auditivo e estando a versao de suicidio voluntario amparada por indicios, c de ser considerada provada essa versao. Suicidio \ oluntario do se gurado e excludente da exigibilidade do seguro.
Vistos, relatado.s c discutidos estes autos de embargos de Nulidade e Infringentes na Apelaqao Civel mimero 47.425, em que e cmbargante: Benvinda Rodrigues dos Santos e embargados
— 1 ) Sul America Corapanhia Nacional de Seguros de Vida c outros e
2) Sao Paulo Companhia Nacional de Seguros de Vida e outros.
Acordam os Juizes do Segundo Grupo de Camaras Civeis do Tribunal de Ju.stiga do E.stado da Guanabara, por unanimidade, em rejeitar os embargos. adotando, como motivagao de julgar, a fundamentaijao da maioria na decisao embargada, nos termos do 1} 3'' do artigo 35, do Ato Regimental n" 12. Custas pelo embargante. Rio de Janeiro. 21 de junho de 1967.
— Ivan Lopes Ribeiro. Presidente. Pio Borges, Reiator. Ciente. Em 21 de junho de 1967. — Linharcs.
ressarcimento de INDENIZAQAO — INCPNDIO DE MERCADORIA TRANSPORTADA
Interven?ao de Terceiro — Pedido do reu de chamamento de terceiros para a demanda — Admissibilidade
apenas nos casos previstos cm lei Inocorrencia na especic — Nao provi mento de agravo no auto do processo.
Transporte de Mercadoria — Aqao de seguradora contra transportadora — Chamamento por esta, para a de manda. de seguradora com a qual contratara o seguro e bem assim do Instituto de Re.sseguros — Inadmissibilidade.
Transporte de Mercadoria — Incendio — Falta de prova de caso fortuito ou for^a maior — Aqao de indeniza^ao proccdente — Recurso provido — Voto vencido.
Por forga do principio dispositivo, e o autor quern diz contra quern deseja demandar. E o reu somcnte pode tra cer terceiros a lide nos casos, previs tos em lei. de intervengao coagida.
A seguradora que paga indenizaqao a segurada e move a(;ao de ressarci mento contra a transportadora nada tern a ver com a companhia com a qual esta contratara o seguro. Tambem nada justifica a presenga, na lide. do Instituto de Resseguros do Brasil, que somente e litisconsorte necessario passivo, em causas contra seguradoras de ■que Ihe possam advir obrigaqoes como ressegurador.
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE SAO PAULO
APELAgAO CivEL N-' 158.973
Comarca de Sao Paulo
Apelantes; Vcra Cruz — Cia. Brasilcira dc Seguros e outras.
Apelada: Transportadora Itapoa Ltniitada.
Acord.ao
Vistos. vebmdos c disrutidos cstcs autos de apcla^ao cvel. 15f(,973, da comarca de Sao Paulo, era que sao apelantes Vcra Cm; Companhia Brnsiloira dc ScQuros e outras. scndo apclnda a Transportadora Itapoa Limitada: Acordam. cm Quiuta Cfimara Civcl do Tribunal dc Justicn. depois de integrado ncste, o rclatorio dc fls., ncgar provimento ao agra vo no auto do proccsso c dar provimento no apelo, para acolhcr a demanda, contra o voto dc Reiator sortcado, que ncgava provimento ao apelo, tendo como prcjudicado o agravo no uuto do pi'occsso.
1. Vcra Cru: — Companhia Brasilcira do Seguros e outras. ajuiraram agiio contra a Transportadora -Itapoa Ltda.. a fini de sc re.ssarcirom da indcnizagao paga a segurada Sanbra — Socicdadc Algodocira do Nordeste Brasileiro S/A. pelo incendio de mcrcadorias traiisportadas em caminhao da re.
A re pcdiu fosscm citados para a demanda o Instituto dc Resseguros do Brasil c a Com panhia dc Seguros Cruzeiro do Sul. com quein cla, re, tcria celebrado contrato de se guros das mcrcadorias sinistradas.
Excluida a intorvengao desses terceiros na demanda, a re interpos agravo no auto do processo,
A agSo, finnlmcnte, foi julgada iinproccdente, porquc a destrui^ao da mercadoria resultara de caso fortuito, o que ensejou a apelagao das autoras.
2. Nega-sc provimento ao agravo no auto do processo. Por for^a do principio disposi tive, e o autor quern diz contra quern deseja deniandar. E o rcu somentc pode trazer tciceiros a lide nos cases, previstos em lei, dc intervengao coagida.
Ora. as nutoras nada teni com o contrato de scguro qiie a re acaso tenha fcito com tcrceiros. NSo estao, portanto, obrigadas a demandar contra esses tcrceiros, ncm podc a re cxigir que esses tcrceiros scjam pnrte na lide.
Vencida a re. voite-sc eln, sc assiin sc entende com direito, contra a sua scguradora. Texto de lei alguin, cntretanto, permitc que a rc imponha, as autoras, que demandein contra a sua seguradora.
Tambem nada justi/ica a prescnqa, no I dc. do Institute de Resseguros do Brasil, que so mentc c litisconsorte neccssario passivo, em causas contra seguradoras, de que Ihe possam advir obrigaqoes como ressegiuadorv. £ evidente que. em aqfio contra a tran.sportadorn, nao cabe o chamnmcnto do Institute a juizo.
E sc o Institute ou a Companhia dc Seguros Cruzeiro do Sii! entendcsscm convcnicnte, para defesa de intercssc subordinado ao da rc, participar da lide, a i-les c que caberia pleitear a intcrvenqao .,ad adjuvandum.-, como as.sistentcs. c acaso rcpelid.i c.ssn forma de inlervenijao voluntaria, a ele.s c que ainda ca beria a interposiijao de rccurso (Codigo de Processo Civil, art. 842, n. I.). A rc, cn tretanto. li que nao tein o direito de cxigir tal intcrven^ao.
Nega-.se, pclo exposto, provimento ao agra vo no auto do processo. 3, Da-se provimento a apelaqiio, para acolher a deinanda, nos tcrmos da inicial, fixados cm vintc por cento da tondenagao o.s honorarios de advogado.
A rc se obrigou ao transportc da mercadoria, Deixou dc ciimprir o contrato de trans portc, cabcndo-lhe. portanto, a dcmon.stragao de quo o inadimplemcnto corre a conta de fortuito ou de for^a maior,
E e.ssa prova nao foi fcita.
Existe. nos autos. um alaudo de vistoriacm que ,se diz que um delcgacio ?Sr. Misaei do Souza Al!neida» foi chamado pclo motonsta do cuminhao que transportava a mcrcadoria e, «em presen^a de testeiiiunhas», afoi feito o examc pericial», afoi ccnstatadn a origem de incendio um circuito,> (csics).
Ora. cm primciro lugar, culpa ja havcria, por parte da transportadora. cm adm.tir o transportc em veiculo inadequado, scm mcio.s bastantcs para evitar as conscqiiencias do circuito c do incendio. E apcsar do prc.stante «laudo de vistoria., dcclarar (c que, obviaincntc, nao podia ser objeto do aprcciagao do vi.stor) que o inctorista c outros colcgas tentaram scm cxito, conibatcr o incendio. tal declaraqao e imprestavel c.xat.imciUc por se iiiio center no ambito dc uma vistoria.
E se o curto-circuito acaso dccorrcu do mnu cstado das instaiai;6cs cletricas, nao se afasta. cvidentcinentc. a rcspon.sabilidadc da transpor tadora
Em segundo lugar, ao jui; c quo cabe a aprcri.igao da" prova. E laudos periciais s6mcnte valen: na medidn cm que pcrmiteni ao juiz, «pcritus pcritorum-. por f6rqa mcsnio das fun(;5cs de que csta invcstido (Jose Ercderico Marques, «Institui?6cs de Direito Proccssual Civilv, III/479). examinar os fates e operai;oes rcalizadas pelo pcrito e os fundamcntos da conclusao □ quo chcgou, Laudo que nao tcnlia conclusao dcvidamcntc fiincininentada c imprestavel.
No caso dos autos, o prctcnso laudo de vistoria, rcalizada nao sc sabe por ciucm, se por pcssca de conhccimcntos teciiicos ou nao, scqiier dcscreve o estado do veiculo sinistrado, ncm diz as razocs pclas quais sc cliegou a conclusao dc provir, o incendio, de vum circuito,).
Iz. portanto, .sob o aspccto probatorio, no tocante a causa do sinistro, uma peqa impres tavel, Accita-lo e accitar quo fique o julga(lo adstrito ii declaragao de pessoa cuja habilitaqfio e idoneidade se ignoram (pois sequcr sc -sabem quern foi o vistor) de que cum circuito,.. foi a causa do incendio, scm que ao juiz se ofere^am as razocs ou motives dc tal conclusao,
Imprestavel o laudo. portanto, sob essc as pccto. porque nao fundamentado. E como conseqiiencia, a prova de que o sinistro dc corrcu de forga maior nao foi fcita.
Nem havcra alegar que, no local em que .so deu o evento, melhor prova nao se poderia promovcr. Suposta exat.i ii hipbtese, obvio que a impre.stabilidade ou a dificiildadc da prova sao de pcsar a qtiem deve prociuzi-hi. no ca.so. a transportadora, que deve pi'ovar a cau.sa dc exonerar-se da rcspon.sabilidade pclo inadimplcmento.
Quanto ao dano sofrido, csta ele compro-vado a fls. c a transportadora deve, portan to. indeniza-!o.
Dai, o provimento integral do apelo. Custas, como do direito.
Sao Paulo, 1' dc dezcmbro dc 1967, .Sylvia Barhosn. prcsidentc coin veto. --- Rodcigues de Alekmin. rclator dcsignado. Octdvio Stiicchi, vcncido, com a seguintc deciara^ao de veto:
As nutoras. como coseguradoras, prcpiiseram a aqao contra a einpresa transportado ra, objetivando o ressarcimcnto da indcnizaqao quo pagaram a segurada (Saalira — Sociedade Algodoeira do Nordestc Brasijeiro S.A.) em dccorrencia de um incendio, com a desIrui^ao total das mcrcadorias traiisportadas.
A rc, alias, com o assentimento das auto ras, fez citar a sua propria scguradora e o Instituto dc Resseguros do Brasil, que vicram <1 ser excluidos da aqao. pelo despacho dc accrtnnienio, ensejando a interposi?ao do agra vo no auto do processo, £sse rccurso e.sta prcjudicado, por ser favoravel a agravante a decisao de merito. E, se asslm nao fosse, seria inafastavcl o improvimcnto.
No tocante a sua seguradora, porque a re, se vcncida, caberia apenas o direito de re gress© e, quanto ao Instituto de Resseguros, ha a imposigao legal do litisconsovcio passivo, quando tenha intercsse na soma pedida na inicial c, no caso, o seu comparccimento s6mente poderia ser feito -ad adjuvandum» das autoras.
2. Aceitcm os litigantcs o laudo elaborado pelo pcrito do Instituto dc Resseguros do Brasil indicando como c.uisa do sinistro um curto circuito, com a rapida propagagao do fogo a mercadoria de facil combustao.
A respeitavel e bcm lonqada sentenqa afostou qualqucr relncionamcnto do incendio com atividade exercida pela re, considcrando-o um f^o imprevisivel e incvitavel, tanto mats quo se Ihe de.sconhcce a verdadeira causa. AcoIhcii, pois, a causa exoncradora do caso for tuito e o fez com inccnsuravcl accrto.
A hipotese e de responsabiiidade contratual, com a sujeigao do transportador inadimplente a composigao dos danos verificados, salvo se
originados em cau.sas indigitadas pela lei, como o caso fortuito ou forga maior. ou culpa exclusiva da vitima.
No conceito dc Chironi (iColpe Contratuale:>, 686). caso fortuito e o acontccimento nao imputavei ao devedor, isto e, nquele que nao era previsivel. ou se prcvisivol. inevitavcl dc tal forma a impedir o adimplemento da obrigaqao.
Aceitando os cnsinamcntos de Mazeaud et Mazeaiid («Responsabi!ite Civile;', 11/468) e Lalou (s;Traifc Pratique de la Rcsponsabititc> Civiic», 217), formou-se. na jurjsprudencta patria, a oricntai;ao que cxclui do ambito da t6,v;a maior e do caso fortuito «as aiionnalidades mecanicas verificadas no veiculo, tais como rompimento de pncumaticos e outras pc?as, desdc que tenham sido estas a causa eficientc do acidente».
Essa conclusao dogmatica nao merece ser agasalhada e mesmo os civilistas franceses admitcm, que por ser uma questao dc caso concreto, as circunstancias irao dizer se as anotmalidades devcm ser tidas como rcsuUantcs ae caso fortuito ou de for^a maior, ou constituiram fato previsivel e evitavel.
Dai a razao por que a jurisprudencia fraiicesa considcra a rutura de pccas, a perfura<;ao de pneus ou o curlo-circuito ora como fato previsivel e 'Cvitwel"para o condutor, ora como caso fortuito ou dc forqa mnior, A quebra dc quaisqucr pei,as — como o curto-circuito tambem — e gencricainente pre visivel, mas, para a identificaijao da culp.a, nao bnsta a previsao ycnerica, reclaniando-se a prcvisibilidade cspecifica, Escorreito o cntendimcnto do Savatier {«La Rcsponsabilite Civiley, 1/234) de que o vicio ou a forca propria da maquina ou do instrumcnto constitui um caso fortuito todas as vezes em que o mal causado era imprevisivel e incvitavel ao condutor,
Dos autos, nao .so pode inferir a prcvisibi lidade cspecifica e o acontccimento incvitavel nao pode scr erigido como supedaneo a pretcnsao indeiiizatbria,
Assim, pclos sous proprios fundamcntos, inantem-se a re.speitavel scntenqa rccorrida. (Rev. Trib. .596/139).

Boletim do C.N.S.P.
mente a incorporagao, pela «Guardian Assurance Company Limited», do patrimonio liquido da «Caledonian Insu rance Company».
Dessa forma, atraves de atos do Poder Executive, devera ser cancelada a carta-patente e a autorizagao para funcionar no Pais da «Caledonian», alem de ser autorizado o aumento do capital da «Guardian» de NCr$ 92.200,00 para NCr$ 354.060,33, em conseqiiencia da incorporagao daquele patrinionio.
Tais modificagoes foram introduzidas pela Resolugao CNSP-5, de 26-5 de 1969.
RECOVAT: TRANSFERSNCIA DE VEtCULOS
RESOLUgAO N^ 6/69
INCBNDIO: CONCESSAO DE SEGURO A PRIMEIRO RISCO
RESOLUgAO N'^ 3/69
O Conselho Nacional de Seguros Privados autorizou a concessao. apos estudo de cada caso isolado, dc segu ros Incendio a Primeiro Risco, para fabricas montadoras de automdveis, usinas eletricas. siderurgias e refinarias de petroieo,
A seguir, o texto da Resolugao CNSP-3, de 12-5-69, sobre a materia.
Considerando a existencia de concentra^oes de valores em risco que superam a capacidade de aceitagao do mercado segurador brasiieiro:
Considerando que o mercado internacional nem sempre oferece potencialidade de aceitaqao para cobertura ple na daquelas concentra^oes;
Considerando que os grandes complexos industriais apresentam, geralmente, caracteristicas estruturais, operacionais e dc prolecao. que tornam improvaveis perdas totals;
Considerando a necessidade de proteger, segundo principios tecnicos adequados, os bens materials cm risco, Resolve autorizar a concessao — a base de estudos individuals — de se guros incendio a primeiro risco para fabricas montadoras de automoveis, usinas eletricas, siderurgias e refinarias de petroieo.
2. O seguro incendio a primeiro ris co so podera ser concedido para os riscos isolados dc valores segurados superiorcs a cobertura disponivel do mer cado brasiieiro, e mediante expressa solicita^ao dos segurados,
3. Cabera ao Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) aprovar a fixagao das condi^oes do seguro em cada caso particular, devendo as taxas propostas ser submetidas a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP).
Ficon ainda estabelecido pela mesma Resolugao que a sociedade incorporadora sucedera a incorporada, em todos o.s direitos e obrigagoes, e continuara a operar em seguros dos ramos elementares.
Atraves da Resolugao n*-' 6, de 26-5 de 1969. o CNSP resolveu incluir a seguinte alinea «e» no item 26 da Reso lugao CNSP-37/68, que aprovou as atuais normas de regulamentagao do seguro obrigatorio de responsabilidade civil dos proprietaries de veiculos automotores de vias terrestres;

«e) transferencia de veiculo de um Estado da Federagao para outro, de que decorram alteragoes no emplacamento do veiculo ou no enderego de seu proprietaries.
CNSP REVS representa(;:ao » DE CORRETORES
RESOLUgAO N'-' 5/69
O CNSP tornou insubsistente a decisao contida no item 2 do Ato n® 9. de 5-12-68, daquele Conselho. determinando ainda o acrescimo, no item 3 da Resolugao CNSP-33/68, de mais uma alinea «c», como segue:
«c) por maioria absoluta das Diretorias dos Sindicatos de Corretores de Seguros em pleno e regular funcionamento».
COMPANHIA REAL DE SEGU ROS: CANCELAMENTO EM PROCESSO
RESOLUgAO. Nv 7/69
O Conselho Nacional de Seguros Privados pela Resolugao n" 7, dc 16 de junho de 1969. opinou favoravelmente a cassagao da carta-patente da Companhia Real de Seguros, com sede no Rio de Janeiro, que vinha funcionando desde 1956 (autorizada pelo Decreto n' 40.600, de 27 de dczembro de 1956).
RESOLUgAO 4/69
O CNSP — atraves da Resolugao n" 4, de 26-5-69 — opinou favoravel-
Estas alteragoes produzirao efeito quando da renovagao da composigao das Comissoes Consultivas do CNSP em fimcionamento; quando da indicagao para a constituigao de novas Co missoes, ou. ainda, quando ocorrer vaga na respectiva representagao, em qualquer tempo.
A decisao do Conselho foi baseada nas diversas infragoes cometidas por aquela Companhia, configuradas em processes instaurados pela SUSEP. bem como na impossibilidade de soerguimento da mesma, em vista da gravidade de sua situagao economico-financeira.
«GUARD1AN^ INCORPORA «CALEDONIANy>
Boletim da SUSEP
auxiliares de ensino, pessoai de admi' nistragao e demais servidores do esta belecimento;
b) novo criterio de taxa^ao;
Em rela^ao as Normas anteriores. as principals aitera^oes sao:
a) inclusao dos estabelecimentos si milares aos hoteis (pensoes, hospedarias, etc.);
b) OS capitals segurados, em cada garantia (Morte e Invalidez), doravtmte serao fixados anualmente pelo IRB;
c) novo criterio de taxa^ao;
d) regulamentagao dos casos de indcniza^ao relativamente aos menores de idade (Circular SUSEP n" 9, de 27-3 de 1969).

«
CIRCULAR N" 12/69
Viagens
A Superintendencia de Seguros Privados — atraves das Circulares ns, 6, 9 e 12 do corrente ano — baixou novas Normas e Condi^oes Especiais para os Seguros Coletivos de Acidentes Pessoais, respectivamente, nas modalidades Estiidantes, Hotels e Estabelecimentos Similares, e Periodos de Viagens. ja divulgadas ao mercado segurador.
CIRCULAR N" 6/69
Estudantes
Nesta modalidade, o estipulante do seguro deve ser o estabelecimento escolar, ou o responsavel peJo ediicandario, cm seu nome pessoai. Podem ser segurados todos os estudantes do esta belecimento qualquer que seja o regime escolar (internato, semi-internato ou externato), exduindo-se semprc os menores de idade inferior a 4 anos,
As principals alteragoes introduzidas foram:
a) so e permitido incluir estudantes na cobertura, ficando, portanto, excluidos o corpo docente. fiscais, monitores,
c) o reembolso das despesas de fu neral (garantia de Morte) passou a ser aplicado nos casos de menores de ida de inferior a 12 anos;
d) regulamentagao dos casos de indenizagao relativamente aos menores; «
e) cobertura restrita as atividades escolares qualquer que seja a idade dos estudantes (Circular SUSEP n" 6, de 12-3-69).
CIRCULAR 9/69
Hoteis
As Normas atuais abrangem, segundo o calculo de premios, os PLANOS^
A — por hospedes, e
B — por ]ota(;ao.
A cobertura e total, incluindo os riscos profissionais e extraprofissionais, ^ compreende todo o periodo ducante qual o hospede estiver registrado no hotel. Os li6.spedcs serao segurados compulsoriamente. excluindo-se apenas
OS de idade inferior a 4 e superior a 75 anos.
As Normas, neste seguro, abrangem OS seguintes tipos:
1) pessoas cm viagens coletivas de veraneios, excursoes, viiegiaturas e ucampamentos, sem qualquer carater profissional;
2) pessoas que adquiram passagens em empresas de turismo;
3) empregados que tenham de viajar a servi^o do Estipulante.
A Cobertura compreende, nos tipos 2 e 3. tanto os riscos profissionais como OS extraprofissionais. e, no tipo 1. os riscos extraprofissionais.
As modifica?6es mais importantes sao as seguintes:
a) o seguro sera concedido por ap6lice com vigencia nao inferior a um ano. nem superior a dois anos;
b) OS capitals segurados. prefixados nas Normas anteriores. doravantc serao determinados anualmente pelo IRB:
c) nos tipos 1 e 2. no reembolso das despesas de funeral (garantia de Mor te) passou a ser aplicado nos casos de menores de idade inferior a 12 anos. e, no tipo 1 o «grupo» minimo a segurar passou de 5 para 10 pessoas;
d) a remessa de avisos de inclusoes. nos tipos 2 e 3. passou de mensal a quinzenal;
e) as taxas passaram a ser as se guintes; tipo 1 — da cobertura parcial extraprofissional. e tipos 2 c 3 — taxas integrals da classe 1 (Circular SUSEP 12. de 7-4-69).
SEGURO BRITANICO TEVE UM ANO NEGATIVO
Scqiindo o Rehitorio Anual da Associaijao dos Seguradorcs Britaiiico-s, 1968 foi um ano dificil. Uina serie dc catastrofcs mctcorologicas oca.sionaram indcniiagocs no valor total de 20 milhoc.s de iibras. trazendo para o ambito nacicnal as maiores perdas cm 1968. contrariamcntc ao que costuiiia aconteeer.
AERONAUTICOS
O mercado londrino (80% a cargo dc companhias dc scquros c 20% do Lloyd s). atcndcu as reclama(;6e5 dc sinistros de nvlocs civis destruido.s cm Bcirute por ocasiao do ataquc i.Taclcnse, pagando ccrca de 18 millides de dolare.s. o que con.stituiu o maior pagamcino individual do ano. Ne.sta ocasiiio o Prcsidcntc da AssociaC'lo dc Seguradorcs Acronauticos dcclarou scr muito provavcl que gucrra c nscus .similarc.s tcnhain que ser c.xcluidos da politic.i
normal dc Seguros Acronauticos ^ scparadamcnte pelo mercado cspccializado cm riscos dc gucrra.
INCENDIO
O-s prcjuizos causados por inccndios sc elevaram a 93.'! milhocs dc libvns, cnquanto que cm 1967 tinha sido akanqado o total de 90 milhScs. No liual do ano o Coniitc de Agendas dc Seguros contra Inccndios aprcsentou estudos com vistas a reformulnr as normas dc protegao contra inccndios, bascados cm e.studos rcnlizados na Cra-Bretanha c no exterior.
AUTOMGVEIS
Espera-sc que os rcsultados do Seguro Automovci.s aprcscntem ligcira mclhora devido a rcdui;ao do luimcro dc rcclama^oes dc addenies.
CIRCULARES DO I.R.B.
JANEIRO ^ JUNHO DE 1969
AERONAUTICOS Codigos de utili-
Aer-Ol/69. de 13-1-69 znfao de aeronaves.
ACIDENTES PESSOAIS
AP-OI/69. do 13-1-69 — Seguro Coletivo Acidentcs Pessoais com cobertiira de riscos decorrentes do assalto cm favor de empregados de estabelccimentos bancarios.
AP-03/69, de 27-6-69 — Normas para Gessoes e Retrocessoes Acidentcs Pessoais.
AP-04/69. de 23-6-69 — Riscos de acumula?ao previamente conliccidos,
AP-05/69. de 23-6-69 — Seguro Coletivo Acidentcs Pessoais de hospedes de hotel e estabelecimentos similiares,
AP-06/69. de 23-6-69 — Seguro Coletivo Acidentes Pessoais em periodos de viagem.
ACIDENTES PESSOAIS — RECUSA
AP-R-OI/69. de 25-4 — Rccusa de cobertura de resseguro de excedente e de catastrofe.
AP-R-02/69, de 14-4 — Recusa de cobertura de resseguro de excedente c de catastrofe.
— Garantia de Invalidez Permanente
AP-R-02/69, de 28-5-69 — Recusa de cobertura de res.seguro de excedente e do catas trofe.
AUTOMdVEIS
AT-OI/69, de 7-1-69 — Tarifa, Tabela de Values Ideais para novos modelos.
AT-02/69. de 16-1-69 — Instru^Scs sobre Resseguro Automoveis — Honorario.s do liquidagao de sinistros, Altera Instrii^oes.
CECRE
CECRE-Ol/69, de 27-3-69 — Contrata«ao de seguros de orgaos do Poder Publico.
CRfiDITO EXTERNO
^-'1-69 — Ri.scos Comerciais, — ralhas na documenta^ao.
CE-02/69 — Riscos (^merciais, Politicos e Extraordinarics — Modifica Condi^oes Particuiarcs.
CREDITO INTERNO
C[-01/69,'de 7-1-69 — Condigoes Especlais do Seguro de Quebra de Garantia para vendas a prazo e vendas a vista com financiamcnto de terceiros. Condi(;ao Particular para Taritagao Especial em anexo.
CI-02/69, dc 28-1-69 — Quebra de Garnn— I.imite de Responsabilidadc da Apolice de Garantia. Altera Condigocs Espcciais em anexo.
CI-03/69, dc 6-2-69 — Condigocs Espcciais dc Seguro de Quebra de Garantia para vendas a prazo e venda.s a vista com financinmento de terceiros — Condi?ao Particular para Tarifagao Especial,
C1-C4/69, de 13-3-69 — Ramo Fidelidade Cobertura nSo discriminada, Minutn de Clausula cm anexo.
Cl-05/69, dc 12-3-69 — Companhias de Credlto, Financiamcnto e Investimentos e Bancos de Investimento.
Cl-06/69. dc 18-3-69 — Condi^oes Espcciais dc Seguro de Quebra dc Garantia para ven das a prazo, vendas a vista com financiamcn to dc terceiros. — Condigao Particular cm anexo.
CI-07/69, de 8-5-69 — Condii;6cs Espcciais do Seguro de Credito fnterno dos Agentes Financeiros da FINAME — Condii;ao Particular, em anexo.
Cl-8/69, dc 20-5-69 — Condi^oes Particulares para as Opera^oes de Financiamcnto de Veiculos usados.
Cl-09/69. de 27-5-69 — Quebra de Garnnt'a — Limite de Responsabilidadc de Apolicc por Garantido, 01-10/69, de 9-6-69 — Controle de Riscos.
INCENDIO
1-01/69, de 13-2-59 — Normas para CessSes e Retroce.ssbes Incendio.
1-02/69, de 30-5-69 — Normas para Cess3es e Retrocessoes Incendio.
1-03/69, de 30-5-69 — Instru?6es para Cessao Incendio,
1-04/69, de 23-6-69 — Resseguro Automatico — Armaz^ns de deposito.
1-05/69, de 23-6-69 — Riscos Excluidos do Resseguro Percentual,
TARIFA DE SEGURO-INCeNDlO DO BRASIL
TSlB-01/69, de 27-1-69 — Trauscreve Cir
cular da SUSEP 46/68 que altera Clausula 152 da TSIB, TSlB-02/69, dc 27-1-69 — Transcrevc Cir
cular da SUSEP 47/68 que altera o artigo la da TSIB, TSIB-03/69. de 5-2-69 — Transcrevc Cir
cular da SUSEP 35/68 quo aprova inclusao de Clausula de Instnlagao de Protegao contra Incendio.
TSlB-04/69. de 5-2-69 — Transcrevc Cir
cular da SUSEP 41/68 que aprova a dos Umites previstos nus Clousulas V das Condigoes Gerais da Apolice Incendio e 303 da TSIB — Objetos de Arte, TSlB-05/69 de 5-2-69 — Transcrevc a Cir cular da SUSEP 48/68 que aprova a inclusao de ocupagao na TSIB.
RAMOS DIVERSOS
OD-01/69, de 13-1-69 — Retrocessoes automaticas para 1969 — Ramo.s Diversos c Lucros Cessantcs decorrentes dc eventos que nao Incendio.
OD-02/69, de 6-2-69 — Fixa cornissao de resseguro no Ramo Vidros, OD-03/69, de 16-5-69 — Liquidai;ao de Si nistros — Resseguros Avulsos dos Ramos Roubo, Tumultos, Vidros e Equinos, OD-04/69. de 26-5-69 — Ro"bo F^^to qualificado — Cobertura dc Resseguro para estabelecimentos bancario.s e cinpresas de cre dito e financiamcnto.
OD-05/69, de 30-5-69 — Ramo Roubo Sinistros relativos a dinhciro e/ou valores em cofres, caixas-fortes ou no interior de estabe lecimentos.
RESPONSABILIDADE CIVIL
RC-01/69, de 6-1-69 — Seguros nao obrigatdrios — Retrocessao automatica para 1969. Comunica participa^ao percentual das compa nhias-
RC-02/69, de 21-2-69 — R.C.O.V. Apura^ao estatistica relativa ao excrcicio de Solicita dados rcfcrcntcs a sinistros, Forinulario em anexo, RC-03/69, de 7-3-69 — Resseguro Avulso solicita comunica<;ao de suspensao de cobcrturas por cancelamento do documcnto de seguro,
RC-04/69. de 29-4-69 — R.C.O.V. Fracionamento de premios — Fundo de Reserva; 10% da receita dos premios.
RC-05/69. de 11-6-69 ~ R.C.O.V,Apuragao estatistica relativa ao exercicio de 1968, Apresenta resultado do levantamento.
RESSEGUROS RURAIS
RR-01/69. de 25-2-69 — Seguro Automatico Rural, Normas de Resseguro — altera o item 2 da Clausula 2' do Adendo n^' 2 das Normas para CessSes e RetrocessSes Rurais.
RR-02/69, de 28-4-69 — Participagao no Excedente Unico — comunica aprovagao da distribui^ao das responsabilidades a cargo "do Excedente Unico.
RISCOS DIVERSOS
RD-01/69, de 27-2-69 — Instrugoes de Res seguro — Formularios em anexo.
RD-02/69. de 27-2-69 — Instrugocs de Si nistros — Formularios ein anexo.
RD-03/69 dc 26-5-69 — Cobertura de Rcsseauro — «Valores cm Transito. em cofres c caixa.s-iortcs e no interior de estabelecimentoso _ Estabelecimentos bancarios e empresas de credito e financiamcnto. Suspende cobertura automatica dc resseguro. Tarilagoes Indivi duals Rcvoga taxas minimas constantes da Circular RD-13/68. de 20-8-68.
RD-04/69, dc 30-5-69 — Sinistros relativos a roubo de dinheiro c/ou valores em transito. em cofrc cm caixas-fortes ou no ititenor dc estabelecimentos - determina mformagoes imediatas e pormenorizadas alcm das comunicagocs previstas nos, formularios, RISCOS
DE GUERRA
RG-01/69 de 10-1-69 — Taxas para cobcrturas dos riscos dc guerra e groves. Altera subitens da Circular RG-08/68.
RG-02/69. de 28-12-69 — Taxas para cobertiiras dos riscos dc guerra e greves — co munica aplicagao de taxas adicionais.

RG-03/69 de 28-3-69 — Altera o item 2 da Circular RG-02/69 — «Viagens aereas internacionais». ,
RG-04/69, dc 10-4-69 — Fixa taxas adicio nais para cobertura dos riscos de guerra e qrevcs.
RG-05/69, dc 11-4-69 — Altera o item 1 da Circular RG-04/69.
TRANSPORTES (INSTRUQOES)
ITp-01/69. de-t5-l-69 — Eleva o limite estabelecido no item 202 das Unstrugdes Transportes» — Rcssarcimentos amigavcis.
lTp-02/69, dc 4-2-69 — Altera o item 105 das Imstrugocs Transportcs Seguros Tcrrestres.
VIDA
V-Oi/69, dc 4-6-69 —Ramo Vida Individual Normas para Gessoes e Retrocessoes Vida Individual.
V-02/69, de 29-5-69 — Ramo Vida em Grupo — Normas para CcssScs c Retroces soes Vida em Grupo — altera o item 4 da Clausula 5'.
V-03/69, de 4-6-69 — Ramo Vida em Gru po — altera Clausula 9' subitem 1.1 e Oausula 28 das N.V.G.
V-04/69, dc 27-6-69 — Ramo Vida Indivi dual — altera Normas para Gessoes e Re trocessoes. Renuraera os antigos itens 3, 4 e 5 da Clausula 8', Premios dc resseguro sobre OS excedentes verificados durante o periodo de carencia, Da data de vigencia.
INCSNDIO: EM VIGOR NOVAS
«NORMAS» E «INSTRUCOES»
Com as Circulates 1-02 e 03, de 30 de maic de 1969, expedidas pelo Departamento Tecnico do IRB, foram transmitidas ao mercado as «Normas para Cessoes e Retrocessoess e as «Instru(;6es para Cessoess, relativas ao ramo Incendio, e que estao em vigor para as apolices emitidas a partir de ]'•' de abril do corrente ano.

As novas «Normas» atualizam as anteriores, consolidando as diversas aiteragoes introduzidas nos ultimos anos. As «Instruq6es» ora aprovadas substiCuem integralmente o antigo «Manual Incendios, e os formularios mencionados estao a disposigao das seguradoras Jio Almoxarifado do Instituto.
RESSEGURO
Destacamos, dentre as principals alteragoes introduzidas, as seguintes;
1) Para fins de cessao de resseguro de Excedente de Responsabilidade, os riscos isao divididos em «comunss. e «vuitosos». Riscos comuns sao os ris cos isolados de importancia segurada inferior a NCrS 8 milhoes. e viiltosos OS que iiltrapassam este valor.
A Cessao dos premios de resseguros dos riscos comuns e feita em ba.se percentuai, com opgao de reajustamento pelo caiculo exato.
No caso dos riscos vultosos, o premio c diretamente proporcional a im portancia ressegurada, calcuiado em fungao da relagao entre esta ultima e a importancia segurada, em cada risco isolado.
Admite-sc tambem que as sociedades lideres de seguros de riscos vultosos efetuem o resseguro integral dos mesmos, e estendam esta faculdade aos riscos comuns cobertos por apolices que abranjam riscos vultosos, desdc que tais opgoes consrcm cxprcssamcntc da apolice, caso em que ficam obrigadas todas as cosseguradoras.
2) A cowtagem de multiplas — anteriormente na base de um documento para cada NCr$ 20 mil — passou a variar para cada sociedade, Assini, o numero de apolices para a determinagao da I| e o quociente da divisao da importancia segurada pelo produto 2K.FR,.
Nao devem ser computadas as apo lices com responsabilidades inferiores a 0,25K.FR], limitado este valor ao maximo de NCrS 3 mil, apesar dc cntrarem no total dc premios c dc ccdcrcm resseguro normalmentc.
Vale lembrar que, no caso de cancelamento de apolices, deve sempre ser adotado o mesmo criterio de contagem de multiplas utilizado a epoca da cessao.
3) A cobertura automatica de res seguro tevc seu valor limite reduzido dc 3 para i miihoes de cruzeiros novos.
FALECEU MARIO MENEGHETT!
EMENTARIO DA UEQISLAQAO brasileira de seguros (1808 a 1968)
1 — Decreto de 2-1-2-1808 — Autorizii o estabcleciinento da (3ompanhia dc Seguros «Boa— (Bfihia).
2 — Alvara dc 5-5-1810 — Libera a estipulagao dc juros c premios, nos contratos de cambio e seguros maritimos.
3 — Decreto de 29-9-1828 — Autoriza a fundaqao da «Sociednde dc Seguros Miituo.s Brasileiro.$» que se rcgcra pelos cstatutos anexos,
•1 — Decreto de 5-3-1829 — Da rcgulamcnto a Administragao do.s Corrcics — Dos Se guros,
5 — Lei de 26-7-1831 — Extinguc a.s Provedorias de Seguros das Provindas do Impcrio.
6 — Lei n' 556 — dc 25-6-1850 — Codigo Comercial Brasileiro — Titulo VII — Do.s Se guros Maritimo.s.
7 — Decreto n" 2.679 — de 2-2-1860 — Dispoe sobre a aprcscntncao obrigatdria dos ba-Janqos e outros documentos das socicdadcs se guradoras
8 — Decreto n' 2.711 — de 19-12-1860
Estabelece a obrigatoricdade do pedido dc autorizaqao para funcionamcnto das sociedades .seguradoras.
13 — Lei n" 294 — de 5-9-1895 — Dispoe sobre as companhias estrangeiras de seguro de vida quo funcionam no territorio do Brasil.
14 Decreto n'' 2.153 — de r'-ll-1895
Da rcgulnmento para a boa cxccuqao da Lci n" 294. dc 5 de setcmbro do corrente ano, quo dispoe sobre as companhias estrangeiras de se guros de vida que funcionam no territorio do Brasil.
15 _ Decreto n" 4.270 — de 10-12-1901 Rcgula o funcionamcnto das companhias dc se guros de vida. maritimos e terrcstres, naciona.s e estrangeiras.
16- Lei m 953 - de 29-12-1902 - Orqa a receita geral da Repiiblica dos Esmdos Unidos do Brasil para o exercicio de 1903. •dii outras providencias.
17 Decreto.n" 5,072 — de 2-12-1903 Regula o funcionamcnto das companhias de se guros de vida, maritimos e terrcstres, nacionais c estrangeiras.
18 - Lei n" 1.316 - de 31-12-1904(Orgamento) — Art, 20 — Equipara as gratificaqScs dos auxiliares da Inspetoria de Se guros.
Vitimado por leceu no dia 30 Meneghetci, ex I.R.B,, que Presidencia no reiro dc 1966 a O Sr. Mario M Vice-Presidente junho de 1964.
colapso cardiaco, fa de junho o Sr. Mario - Vice-Presidente do esteve no exercicio da periodo dc 7 de feve25 de julho de 1966. eneghetti foi designado por Decreto de 3 de
Entre os varios cargos desempenhados pelo Sr. Mario Meneghetti. cabe
ressaltar o de Ministro da Agricultura, Chefe do Escritorio Comercial do Brasil em Assungao, Paraguai, e Embaixador na Nicaragua.
Durante a permanencia no I.R.B., quer na Vice-Presidencia, quer na Pre sidencia, o Sr. Mario Meneghetti paulou sempre siia atividade no sentido de bem scrvir a fnstituigao. dentro do mesmo espirito que caracterizou sua vida de homem publico.
9 — Lei 11' 1.177 — de 9-9-1862 — Orgamento Gerai do Impcrio do Brasil.
10 — Decreto n' 3.189 — de 25-11-1863
Da inodelo para o balango das operai,6c.s das coinpanhias de seguro miituo e fixa o prazo de uin ano para sua publicagao.
11 — Decreto n" 10.272 — de 20-7-1889
— Concede autorizaqao a Companhia Equita ble Life Assurances para funcionar no Impc rio.
12 — Decreto n' 96 — de 26-12-1889
Declara sem efeito o Decreto n'-' 10.272, de 20 dc julho de 1889.
19 Decreto n" 5.466 — de 25-2-1905 Substitui a tabela de rctribuigao do pes.soal da Inspetoria de Seguros.
20 Decreto Legislativo n" 1 .637 -- de 5-11-1907 — Cria sindicatos profissionais e sociedades cooperativas.
21 - Lci n- 2.356 — de 31-12-1910 (Or^amento) — Art. 82 — Autoriza a reforma da Inspetoria de Seguros.
22 — Decreto iv 9.287 — do 30-12-1911 Regulamenta o servigo de fiscalizagao do Goverlio junto as companhias estrangeiras de se guros.
23 — Lei n' 2.7I8--D — de 31-12-1912
Revoga disposi<;ao do Decreto n' 5.072, de 2-12-1903, e cria o imposto fixo de 2% (dois por cento) sobre os prcmios de scguros.
24 — Lei n" 3.071 — de I'-l-igid — Codigo Civil Brasileiro — Capitulo XiV Do Contrato de Seguro.
25 — Lei n" 3.089 — de 8-1-1916 — (OrCamento) — Art. 104 — Supriine um lugar de segundo escritiirario da Inspetoria de Seguros.
26 — Decreto n' 12.380 — de 25-1-1917
— Da reguiamento para a cobranga dos impostos do selo de fiscalizagao e de sorteios, a gue estao sujeitas as corapanhias do seguro.s.
27 — Decreto n' 12.710 — de 13-11-1917
— Estabelece a fiscaliiagao especial e permanente das companhia.s de scguros com sede na Alemanha, enquanto durar o estado de guerra,
28 — Decreto n'' 13.543 — de 9-4-1919
Organiia a Comissao Consultiva para o estudo dos assunto.s concernentes ao.s seguros con tra OS acidentes do trabalho.
29 — Decreto n' 13.712 — de 7-8-1919
Extingue a fiscalizagao especial c permancnte das companhias de seguros com sede na Ale manha
30 — Decreto n" 14,593 — de 21-12-1920
— Aprova o novo reguiamento para o scrvigo de fiscaiizagao das companhias de seguros nacionais e estrangeiras.
31 — Lei n" 4.632 — de 6-1-1923 — (Orgamento) — Art. 173 — Coloca sob a fiscalizagao da In.spetoria de Seguros as operag6cs de seguros operarios.
32 — Lei n" 4.793 — de 7-1-1924 — (Orgamento) — Art, 242 — Autoriza a reorganizagao da Inspetoria de Seguros.
33 — Decreto 16.738 — de 13-12-1924
— Reorganiza a Inspetoria de Seguros e apro va o nbvo reguiamento para o servigo de fiscalizagao das companhias nacionais e estran geiras.
34 — Decreto n" 5.372-B — de 10-12-1927
— Cria OS oficios privativos de notas e rcgistros de contratos maritimos e da outras providencias.
35 — Decreto n" 5,470 — de 6-6-1928 ~
Obriga as companhias de seguros maritimos e terrestres, nacionais c estrangeiras, a apre.sentar a Inspetoria de Seguros para a devida aprovagSo as suas taxas minimas de preitiios,
36 — Decreto n' 18.399 — de 24-9-1928
Aprova o reguiamento para os oficios privati vos de notas e registro de contratos maritimos.
37 — Decreto n" 19.936 — de 30-4-3!
Aitera o orgamento da Rcceita para 1931 ,
38 — Decreto n" 19.957 — de 6-5-1931 Corrige o Decreto n' 19.936, de 30-4-1931.
39 — Decreto n" 20.932 — de 12-1-32
Cria, no Institute de Previdencia dos Fuiicionarios Publicos da Llniao, um seguro de vida temporario para garantla da aquisigao de imdveis c libera desse onus o pcciilio instituido.
40 — Decreto n'' 21-538 — de 15-6-32
Iscnta OS contratos de seguros maritimos da obrigatoriedade do registro a que se refcrem OS Decrctos ns. 5.372-B. de 10-12-27, e 18,399. de 24-9-28.
41 — Decreto n' 21.626 — de 14-7-32
Cria a fiscalizagao da Fazenda junto as Com panhias Seguradoras ou Sindicatos profissionais que operam em acidentes do trabalho.
42 — Decreto n" 21.828 — de 14-9-32 Aprova o Reguiamento dc Seguros,
43 — Decreto n" 22.239 — de 19-12-32 Reformn as disposigoes do Decreto Legislativo n" 1.637, de 5-11-1907.
44 — Decreto n" 22.826 — de 14-6-33
Cria o Oficio de Notas e Rcgistros de Con tratos Maritimos.
45 — Decreto n' 22.865 — de 28-6-33
Transferc a Inspetoria dc Seguros do Ministerio da Fazenda para o do Trabalho, Industria e Comercio e da outras providcncias,
46 — Decreto n' 23,286 — dc 25-10-33 Subordina os delcgados regionais da Inspeto ria de Seguros as Inspetorias Regionais.
47 — Decreto n' 24.637 — de 10-7-34 Estabelece sob novos moldes as obrigagoes rc.sultantes dos acidentes do trabalho e da outras providcncias.
48 — Decreto n' 24.782 — dc 14-7-34 Cria, no Ministcrio do Trabalho, Industria c Comercio, o Departamento Nacional de Segu ros Privados e Capitalizagao e da outras providencias.
49 _ Decreto n" 24.783 —.de 14-7-34 Aprova o reguiamento do Departamento Nacio nal de Seguros Privados c Capitalizagao,
50 — Decreto n" 85 — dc 14-3-35 — Apro va o reguiamento que estabelece as normas a que devcm obedeccr as operagdes de seguro contra acidentes do trabalho,
5! — Decreto n'' 86 — dc 14-3-35 — Expcde ns tabelas pclas quais se devein regular as indenizagocs per acidentes do trabalho, a que alude o art. 25 do Decreto n" 24.637, de 10-7-34. e da outras providencias,
52 — Decreto n" 164 — de 15-5-35 — Ai tera disposigao do reguiamento que, aprovado pelo Decreto n'' 85, de 14-3-35, estabelece as normas a que devem obedccer as operagoes de seguros contra acidentes do trabalho.
53 — Portaria do M.T.I.C. — dc i'-8-35 Contrato de seguros, contra acidentes do trabalho.
54 — Decreto n" 350 — de l"-10-35 — Promulga a Convcngao Internacional para a unificngao de certas rcgras relativa.s a limitagao da responsabilidadc dos proprietaries de embarcagocs mnritimas, e rcspectivo Protocolo de Assinatura firmados entre o Brasil e varies pniscs, cm Bruxelas. a 25-8-24, por ocasiao da Conferencia Internacional de Dircito Maritimo reunida na mesm.i capital.
55 Decreto n'' 1.756 — de 1^-7-37 — Da redagao nova ao art. 40 do reguiamento apro vado pelo Decreto n' 85 de 14-3-35, 56 — Circular n^' 47 — de 10-9-37 — Mi nistcrio da Fazenda — Instrugoes para o ser vigo de fiscalizagao do pagamento do impos to do selo federal sobre contratos de scguros c capitalizagao.
57 — Decreto-lei n' 483 — dc 8-6-38 Institui o Cddigo Brasileiro do Ar.
58 — Decreto-lei n' 540 — de 7-7-38 Dispensa as companhias de scguros sobre aci dentes no trabalho de pagamento do imposto a que se refcrc o art. 1" do Decreto n'' 19.957, de 6-5-31. desdc a criagao do tribute ate a data de 10-2-36.
59 — Decreto-lei n- 926 — de 5-12-38 Dispoe sobre a constituigao, funcionnmento e fiscalizagao das sociedades cooperativas dc se guros.
60 — Decreto-lei n' 1.186 — de 3—4-39 Cria o Institute de Resseguros do Brasil.
61 — Portaria n" SCm55 — de 25-4-39 M.T.I.C. — Servigo de Comunicagoes — Determina a sub.scrigao das agocs da classc A do Instituto de Resseguros do Brasil.
62 — Decreto-lei n^' 1.557 — dc T'-9-39 Autoriza o Departamento Nacional do Cafe a efetuar operagoes dc seguro e da outras pro vidcncias.
63 — Portaria do Ministro da Fazenda de 2-9-39, com alteragao de 3-10-39 — Instru goes para execugao do Decreto-lei n'' 1-557, dc I'-g-sg,
64 — Decreto-lei n' 1.713 — de 28-10-39 Dispoe sobre os Estatutos dos Funcionarios Pu blicos Civis da Uniao.
65 — Decreto-lei n" 1.805 — de 27-11-39 Aprova os estatutos do Instituto de Resseguros do Brasil. cria neste um Consclho Fiscal e da outras providencias,
66 — Decreto-lei n" 2.063 — dc 7-3-40 Regulamenta sob novos moldes as operagoes de seguros privados c sua fiscalizagao,
67 — Decreto-lei n" 2,063 — de 7-3-40 Retificagao.
68 Decreto n" 5.901 — de 20-6-40
Aprova o reguiamento para execugao do art.
185 do Decreto-lei n" 2,063, de 7-3-40.
69 Decreto-lei n'' 2.765 — de 9-11-40
Dispoe sobre a quitagao de emprcgadores para com as instituigoes de seguros sociais.
7Q Decreto-lei n" 2.848 — de 7-12-40
Codigo Penal — Titulo II — Capitulo VI
Do estclionato e outras fraudes — art. 171.
71 portaria n^ 6.522 — dc 23-1-41
Do Chefc de Pollcia — Pericia de incendio.
72 Decreto-lei n" 3.159 — de 31-3-41
Transferc ao Departamento Nacional do Tra balho c a.s Dclegacias Regionais do Ministerio do Trabalho, Industria c Comercio competencia atribuida ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao.
73 Decreto-lei n" 3.172 — de 3-4-41
Regula o cosseguro no ramo incendio,
74 Decreto-ici n** 3.250 — de 8-5-41 Dispoe sobre rescrvas livres das sociedades dc seguros e dc capitalizagao.
75 — Decreto-lei n" 3.272 — de 17-5-41 Prorroga o prazo de vigencia do Decreto-lei 3.172, de 3-4-41, no Estado do Rio Grande do Sul.
76 — Decreto-lei n^ 3,695 — de 8-10-41
— Da nova redagao ao art. 44 do Decreto n" 24.637, dc 10-7-34,
77 _ Decreto-lci n^ 3.784 — de 30-10-41 Regula a aceitagao das retrocessoes do Insti tuto dc Resseguros do Brasil.
78 Decreto-lci n° 3.863 — de 22-11-41
— Fixa um prazo de seis meses para entrar em vigor o Decreto-lei n' 3.695. de 8-10-41.
79 Decreto-lei n" 3.908 — dc 8-12-41
Disp5e sobre as sociedades miituas de scguros.
80 _ lOecreto-lci n' 3,941 — de 16-12-41
— Cria o Servigo Atuarial no Ministerio do Trabalho. Industria e Comercio e da outra.s providencias.
§] Decreto-lei n° 3.996 — de 2-1-42 Dispoe sobre as pcricias mcdico-legais relativas a acidentes do trabalho e da outras pro vidcncias.
82 Decreto n" 8.738 — dc 11-2-42 Regulamenta o Capitulo V — ■j.Da Fianga?do Titulo I, do Decreto-lci n" 1,713. de 28-10-39.
83 — Decreto-lei n" 4.551 ~ dc 4-8-42 Dispoe sobre operagoes do Instituto de Previ dencia c Assistencia dos Scrvidores do Estado.

84 — Decreto-lei n" 4.608 — de 22-8-42 Dispoe sobre as sociedades mutuas de seguros.
85 — Decreto-lei n" 4.069 — de 22-8-42 Estabelece a garantia subsidiaria do Governo Federal as sociedades mutuas de seguros e dS outras providencias.
86 — Dccreto-lei n" 4.636 — dc 31-8-42
Cassa a autoriza^ao de funcionamento as companhias de seguros alemas e italianas, e da outras providencias,
87 — Decreto-lei n" 4,655 — de 3-9-42 Dispoc sobre o Imposto do Sclo.
88 — Decreto-lei n" 5.087 — de 14-12-42
— Autoriza a cria^ao na Caixa de Aposentadoria e Pensoes dos Servigos Aeroos c de Tele-Comiinicaqoes. dc uma carteira de Seguro.s dc Acidentes do Trabalho,
89 — Dccreto n' 11 .121 — de 22-12-42
Da nova redagao ao § 4' do art. 44 e ao art. 46, ambos do regulamento aprovado com o Dccreto n" 85, de 14-3-35.
90 — Decreto-lei n'' 5.216 — de 22-1-43 Modifica o art. 3'' do Decreto n" 86, de 14-3-35,
91 — Circular n' 14 — DNSPC 1.435/43, de 3-3-43 — Recomenda providencias sobrc isengao de selo.
92 — Portaria n" 3 — DNSPC 8.129/42 de 11-3-43 — Aprova modclos e instru(;oes para o recolhimento do imposto do selo.
93 — Decreto-lei n- 5.384 ~ de 8-4-43 Dispoe sobre os beneficiarlos do seguro dc vida.
94 — Dccreto-Ici n' 5.429 — de 27-4-43 — Dispoe sobrc a exclusao de dirigcntcs de sociedades mutuas dc scyuros de vidn do ainbito da legislaqao do trabalho.
95 — Dccreto-lei n' 5.452 — do l'-5-43 Aprova a Consolidagao das Leis do Trabalho.
96 — Dccreto-lei n" 5.811 — de 13-9-43 — Autoriza o Institute dc Previdencia e Assistcncia dos Servidores do E.stado a a.ssumir os direitos e obrigayoes dos contratos do.s seguros de vida da.s companhias de seguros italianas. cm liquidayao e da outras providencin.s.
97 — Decrcto-lel n' 5.844 — de 23-9-43 Dispoe sobre a cobranga c fiscalizayao do Im posto de Renda.
98 — Decreto-lei 6.319 — de 6-3-44
Dispoe sobre o prazo do depdsito e seguro contra riscos de incendio de mcrcadoria.s depositadas em Armazens Gcrais e da outras providencias.
99 — Decreto-lei n' 6.388 — 30-3-44
Dispde .sobre a extingao dos resseguros no ramo Vida apds o inicio de operagoe.s do Instituto de Resseguros do Brasil no rcferido ramo.
100 — Decreto-lei n' 6.400 — de ,3-4-44
Autoriza o In.stituto de Resseguros do Brasil a organizar a Bolsa Braslieira de Seguros.
101 — Decreto-lci n" 6.964 — dc 17-10-44
— Dispoe sobre o recolhimento ao Te.souro Nacional. pelo Instituto de Resseguros do Brasil, das contribuigoes prcvi.stas no art. 109, dos seus Estatutos.
102 — Dccreto-lei n'' 7.036 — de 10-11-44
— Reforma- a Lei de Acidentes do Trabalho-
103 — Decreto n" 18.037 — de 9-3-45
Altera a Tabcla Numerica Ordinaria de Extranumerarios-mensalistas do Dcpartamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao. do Ministerio do Trabalho, Industria e Comcrcio.
104 — Dccreto-lei n'' 7.377 — de 13-3-45 Dispoe sobre o ativo das sociedades miitua.s dc seguros.
105 — Decreto-lei n" 7.378 — de 13-3-45
— Prorroga o inicio da vigencia do Decretolei n' 7.036, de 10-11-44.
106 — Decreto-lei n" 7.485 — de 23-4-45
— Dispoe sobre a prova do casamento nas habilitayoes aos bencficiarios do seguro social, e da outras providencias.
107 — Decreto-lei n" 7.526 — dc 7-5-45
Lei Organica dos Services Sociais do Brasil.
108 — Decreto-lei n' 7.527 — dc 7-5-45
— Altera a redagao do Decrcto-lei n" 7.036. de 10-11-44.
109 — Decreto-lci n" 7.55) —: de 15-5-45
— Dispoe .sobre a materia do Decreto-lei n" 7.036, de 10-11-44, em face das disposi?6es do Decreto-lci n' 7.526, de 7-5-45, e da outras providencias.
110 — Decreto n" 18.809 — de 5-6-45 Aprova o Regulamento da Lei de Acidentes do Trabalho.
111 — Decreto-lei n" 7-675 — de 26-6-45
— Reorganiza o Tribunal Maritimo AdminisIrativo c da outras providencias.
112 — Decreto n" 20.180 — dc 13-12-45 Aprova o Regimcnto do Scrvigo Atuarial (S At.) do Ministerio do Trabalho. Industria e Comercio.
113 — Decreto-lci n" 8.488 — de 28-12-45
— Prorroga o prazo de vigencia dos depositos bancario.s, fixado pelo art. 6" do regula mento da lei de Acidente.s do Trabalho. apro vado pelo Decreto n" 18.809. de 5-6-45, estabclece a elevagao gradual das rescrva.s das so ciedades e instituigoes que opcram em seguro de acidentes do trabalho. c da outras providencias.
114 — Decreto-lei n" 8.624 — de 10-1-46
— Dispoe sobrc a remessa de eiemontos informativos, pela.s .sociedades de seguros privados e capitalizagao. ao Servigo Atuarial, e da outras providencias.
115 — Decreto-lei n" 8.934 — de 26-1-46
— Dispoe sobre as sociedades mutuas de se guros sobre a vida.
116 — Decreto-lei n' 9.409 — de 27-6-46
— Altera a Lei do Selo.
117 — Decreto-lei n' 21.417 — de 12-7-46
— Retifica o art. 33 do Regulamento da lei de Acidentes do Trabalho.
118 — Dccreto-lei n" 9-525 — de 26-7-l()
— Modifica o Dccreto-lei n'' 9.409, dc 27-6
dc 1946.
119 _ Decreto-lei .V 9.587 - de 16-8-56
— Restabclece a vigencia do Decreto-lcr n5.429, cic 27-4-43.
120 — Decreto-lei n" 9.690 — de 2-9-46 Reorganiza o Dcpartamento Nacional de Segu ros Privados c Capitalizagao do Mimstcno do Trabalho, Industria e Comercio. c da outras providencias.
121 — Decreto-lei 21.799 - de 2-9-46
— Aprova o Regimento do Dcpartamento Na cional de Seguros Privados e Capital^agao do Ministerio do Trabalho. Industria c Comercio.
122 — Decreto-lei n^' 9.735 — de 4-9-46
Consolida a legislagao relativa ao Instituto de Resseguros do Brasil c da outras providencias.
123 — Decreto n' 21.810 — de 4-9-46
Reforma os Estatutos do Instituto dc Rcsscguros do Brasil.
12-1 — Decreto-lei n' 9.781 — de 6-9-46-Amplia a iscngao estabelecida pelo ? v. ktra «a» do Decreto-lei n^ 5.844, dc 23-9-43.
125 — Dccreto n" 22.856 — de l"-4-47
Adota modelcs especiais de fichas para registro e escrituragao das fiangas cm apoliccs de seguro de fidelidadc funcional e da outras pro videncias,
126 — Portaria DNSPC n" 8 — dc 6-5-47
— Estabelece normas sobre a cmissao de apo liccs de seguros e recibo.s dc renovagao, com efeito rctroativo. autorizando a uiclusao cl-i clausula da renovagao automatica nos seguros novos.
127 - Decreto 24.239 - de 22-12-47
— Aprova o Regulamento para cobranga c tiscatizagiio do imposto dc renda.
128 — Dccreto n' 24,469 - de 4-2-48Altera a redagao do art. 47 dos Estatutos do Instituto de Resseguros do Brasil aprovados pelo Decreto n' 21.810, de 4-9-46.
129 — Portaria MVOP n" 740 —do 30-8-48
— Regula as vistorias nos armazens portuarios.
1.30 — Decreto n" 25.662 — de 14-10-48
Aitcra o paragrafo unico do art, 2'^ do Dccre to n' 8.738. dc 11-2-42.

131 — Lei n" 599-A — dc 26-12-48 — Pi* nova redagao aos arts. 22. 23, 44. 95 e 112, do Decreto-lei n" 7.036, de 10-11-44.
132 - Lei n' 645 — de 4-3-49 — Dispoc sobrc OS direitos c garantias trabalhistas dos cmpregados de Emprcsas Mutua.s de Seguros de Vida.
133 — Lei n' 1.046 — de 2-1-50 — Disposigao sobre a consignagao em folha dc pagamento.
134 Decreto n" 27.833 — dc 25-2-50
Promulga a Convengao para a unificagao de certas rcgras relatlvas a danos causados pelns acronaves a terceircs na superficie, firmada em Roma, □ 29-5-33, c o Protocolo Adicinal a mesma, firmado cm Bruxclas, a 29-9-38.
135 — Decreto n" 29.836 — de 1-8-51
Altera o § 4'' do art. 3" do regulamento apro vado pelo Decreto n'-' 20.180. de 13-12-45, e da outras providencias,
136 — Portaria DNSPC n' 5 — de lO-S-51 — Expede instrugoes sobre a concessao de autorizngao para funcionamento das sociedades de seguros.
137 _ Lei n" 1.474 — de 26-11-51 — Mo difica a legislagao do imposto sobre a rcnda-
138 _ Decreto 31 .548 — de 6-10-52
Cria a Carteira dc Acidentes do Trabalho do Instituto de Aposentadoiia c Pensoes dos Industriarios, c da outras providencias.
]39 Decreto n'' 31.645 — dc 23-10-52
Altera a redagao do art. 4'', do Decreto n" 31.548. de 6-10-52.
140 — Lei n" .722 — de 18-12-52 — Prorrooa o prazo estipulado nos §§ 2" e 3", letra «hr, do art. r da Lei n" 1.474, de 26-11-51.
141 Decreto n' 31.984 — de 23-12-52
— Dispoe sobre os seguros dc acidente do trabalho nas instituigoes de Previdencia Sodal.
142 _ Lei n" 1,807 — dc 7-1-53 — Dispoe sobrc as operagoes de cambio e da outras pro videncias.
143 Decreto n" 32.392 — de 9-3-53 Da nova publicagao ao Dccreto-lei n" 4.655, de 3-9-42 consolidando as aiteragSes posteriores.
144 _ Portaria DNSPC n" 5 — de 21-3-53 — Expede normas a respeito do deposito, a que cstao obrigadas as Empresas de Seguros, no Banco Nacional do Desenvolvimento Economico.
145 Decreto n'' 32.668 — de I'-S-SB
Altera dispositivos do Regulamento do Institu to de Aposentadoria e PensSes dos Empregados cm Tran-sportes e Cargas. quanto ao scguro-docnga dos trabalhadores autbnomos e avulsos.
146 — Lei n'' 1.985 — de 19-9-53 — Dis poe sobre seguros de acidentes do trabalho-
147 — Lei !!■■■ 2.168 — de 11-1-54 — Es tabelece normas para instituigao do seguro agrariu.
148 _ Portaria DNSPC iv 4 — de 13-1-54
— Determina que as agoes nominativas so serao accita.s e inscritas como garantin das Reservas Tecnicas do Capital ou do Fundo inicinl. a vista do documento fornecido pelo emitente de que sc aclia averbada. no Livro de
Rcgistro de Agoes Nominativas, a clausula de Qao poderem ser alienadas ou oneradas sem expressa autorizagao do DNSPC.
H9 — Decreto n- 35.099 — de 19-2-54 Revoga o Decreto n'' 31.645, de 23-10-52, e da outras providencias.
150 — Decreto n- 35.292 — de 31-3-54 Revoga o Decreto n" 35.099, cie 19-2-54,
151 — Decreto n' 35.370 — de 12-4-54 Regulamenta a."; operagoes de seguro agrario.
152 — Decreto n' 35.409 — de 28-4-54, DispSe sobre a Companhia Nacionai de Segu ro Agricola. aprova os seus Estatutos e da outras providencias.
153 — Decreto n" 35.582 — de 31-5-54
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito es pecial de Cr$ 30.000.000,00, destinado a subscrigao, pelo Tesouro Nacionai, de agoes da Companhia Nacionai de Seguro Agricola, que e o Poder executive autorizado a organizar, no conformidade da Lei n" 2.168, de 11-1-54.
154 — Lei n" 2.249 — de 26-6-54 — Modifica o art. 22 e seus paragrafos do Decreto-lei n" 7.036, de 10-11-44, alterado pela Lei n" 599-A, de 26-12-48.
155 — Decreto n" 36.319 — de 8-10-54
Abre, pelo Ministerio do Trabaiho. Indiistria e Comercio, o credito especial de Cr$ 10.000.000,00, para os fins que especifica,
156 — Portaria DNSPC n" 23 de 18-10-54 — Delega competencia as Delegacias Regionais a conceder a liberagao c transferencia de bens inscritos obrigatoriamente cm garantia do Capital, das Rcservas Tecnicas e do Fundo de Garantias de Retrocessoes, estabelecendo as respectivas normas.
157 — Portaria DNSPC n° 24 — de 4-11-54
— Revoga a Portaria DNSPC n' 5, dc 10-8-51.
158 — Portaria DNSPC n'' 27 — de 9-12-54
— Evidencia derrrogagao do art. 9' do Decreto-Iei n' 2.063, de 7-3-40 e. conseqiientemente. a aboligao das restrigoes contidas nos artigos constantes do citado Decreto-lei c decorrentes do principio nacionalista estabelecido por aquele artigo.
159 — Decreto n' 37.043 — de 16-3-55 Deciara em vigor as condigoe.s da apblice e a tarifa de seguro pecuniario de bovinos.
160 — Lei n" 2.443 — de 16-3-55 — Modifica o paragrafo linico do art. 1^ do De creto-lei n'' 5,087, de 14-12-42.
151 — Decreto n' 37.272 — de 28-4-55
Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa de seguro agrario do trigo.
162 — Decreto n" 37.449 — de 7-6-55
Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa de .seguro agrario de cafe.
163 — Decreto n' 37.600 — de 12-7-55
Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa dc seguro agrario de videirn.
164 — Decreto n*' 37.847 — de 2-9-55 Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa de seguro agrario de arroz,
165 — Decreto n' 37.882 — de 13-9-55
Deciara em vigor as condigoes da apolice c a tarifa de seguro agrario de algodao herba-
166 — Lei n"* 2.668 — de 6-12-55 — Modifica o Decreto-lei n'' 9.735. de 4-9-46. que consolida a legislagao relativa ao Institute de Resseguros do Brasil, e da outras providencias.
167 — Decreto n" 39.664 — de 30-7-56 Dispoe sobrc as Reservas Tecnicas da Com panhia Nacionai de Seguro Agricola, e da outras providencias.
168 — Lei n'' 2.866 — de 13-9-56 — Modifica o art, 114 do C)ecreto-lei n" 483 dc 8-6-38.
169 — Lei n'' 2.873 — de 18-9-56 — Modifica o § 3'' do art. 17. o paragrafo tinico do art. 19 c o art. 44 do Decreto-lei n'' 7.036. de 10-11-44 (Reforma da Lei de Acidentes do Trabaiho).
170 — Decreto n- 40,259 — de 31-10-56
— Elcva o capital do Instituto de Resseguros do Brasil.
171 — Portaria I.R.B. n" 8.394 — dc 4-1-57 — Cria a Bolsa de Seguros, dc Ins tituto de Resseguros do Brasil,
172 — Portaria DNSPC n" 4 — de 22-1-57
— Revoga sistema de elaboragao de Certidoes Negativas para os cases de necessidade dc realizagao de seguros fora do pais e estabelece a sua substituigao por uma certidao linico a ser fornecida pelo Instituto de Resseguros do Brasil,
173 — Decreto n' 40.810 — de 23-1-57 Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa do seguro agrario de pequcna lavoura dc culturas multipla.s.
174 -- Lei n' 3.149 — de 21-5-57 — Dis poe sobre a organizagao do Servigo de Assistencia c Seguro Social dos Economiarios, e da outras providencias.
175 — Decreto n'' 41.721 — de 25-6-57
Promulga as Convengoes Internacionais do Trabaiho de ns. II, 12 {Acidentes do TrabaIbo), 14, 19, 26. 29, 81, 88, 89, 95, 99. 100 c 101, firmada.s pelo Brasil e outros paises cm sessoes da Conferencia Cera! da Organizagao Internacional do Trabaiho.
176 — Portaria MTIC n' 172 — de 28-11-57
— Dispoe sdbre o capital ininimo para autorizagao de funcionamento das novas sociedades dc seguros.
177 __ Decreto n" 43.622 — de 30-4-58 Altera a redagao dos arts. 12, § 1", 26, para grafo linico. 27 e 39. e suprime o paragrafo unico do art. 27 do Decreto n- 21.810, de 4-9-46.
178 — Decreto iV 43.913 — dc 19-6-58
Aprova o Rcgulamento do Servigo de Assistciicin e Seguro Social dos Economiarios (SASSE).
179 _ Decreto n' 44.041 — de 12-7-58
Deciara em vigor as novas condigoes da proposta. apolice e a tarifa dc seguro agrario de trigo.
180 — Decreto n' 44.872 — de 26-11-58
Deciara cm vigor as novas condigoes da proposta. apc-lice e a tarifa de seguro pccuano de bovinos.
181 — Lei n" 3.519 — de 30-12-58 -- Modifica a Con.soiidagao das Leis do Imposto do Selo, baixada com o Decreto n" 32.392. dc 9-3-53, e da outras providencias.
182 — Decreto 45.421 — dc 12-2-59
Da nova publicagao a Consolidagao das Leis do Imposto do Selo, baixada com o Decreto n'' 32.392, dc 9-3-53, com as disposigoes postcriores c outras em vigor.
153 _ Instrugao SUMOC n' 181 — de 22-4-59 — Regula o valor em cruzeiros das importagoes, transportcs c seguros.
184 — Decreto n'' 45.942 — de 29-4-59 Dispoe sobre a organizagao do Dcpartamento dos Scguro.s Privados e Capitalizagao do IPASE.
185 — Decreto n' 47.148 — de 29-|0-55 _ Altera a redagao do inaso V do art ) do art. 22 do Decreto n" 45-942, de 29-4-59, que «disp6e sobre a organizagao do Dcparta mento de Scquros Privados e Capitalizagao do Institute de Previdcncia c Assistencia aos Servidores do Estado»,
186 — Decreto n" 47,170 — de 5-11-59
Altera o Regulamcnto do Servigo de Ass'stcncia e Seguro Social dos Economiarios (SASSE).
187 — Lei n^' 3.782 — de 22-7-60 — Cria
OS Ministerios da Industria e do Comercio c das Minas e Energia, e da outras providencias.
188 _ Lei n" 3.807 — de 26-8-60 — Dis poe sobre a Lei Organica da Prcvidencia bo cial.
189 — Decreto n" 48.887 -- de 26-8-60
Deciara em vigor as novas condigoes das propostas. apoliccs, aditivos e a tarifa do segu ro agrario de colheita,
190 _ Decreto n" 48.946 — de 15-9-60
Deciara cm vigor as CondigSes Especiais e a tarifa para o seguro Agrario de Colheita.
191 — Decreto n' 48.959-A —- de 19-9-60
— Aprova o Regulamcnto Geral da Previdcn cia Social.
192 _ Decreto n' 49.299 — de 19-11-60
Altera o Regulamcnto do Servigo dc Assis tencia e Seguro Social dos Economiarios (SASSE), aprovado pelo Decreto n" 43.913. de 19-6-58.
193 Decreto n'' 50.223 — de 28-1-61

Aprova o Regulamcnto do Servigo de Assis tencia c Seguro Social dos Economiarios (SASSE).
194 Decreto n" 50.309 — dc 2-3-61 Torna sem cfcito os Decretos ns. 49.299. de 19-11-60 c 50.223. de 28-1-61.
195 _ Decreto n" 50.876 — de 29-6-61 Dispbc sobre as normas para comprimir as ialtas c as avarias nos transportcs maritimos e para disciplinar as vistorias de mercadorias.
195 Decreto n' 51.089 — dc l''-8-6l Altera os Estatutos da Companhia Nacionai de Seguro Agricola.
197 _ Decreto n'' 171 — de 20-11-61
Deciara em vigor as condigoes da apolice e a tarifa para o seguro agrario de videira.
198 — Lei n'' 4.048 — de 29-12-61 — Dis poe sobre a organizagao do Ministerio da In diistria e do Comercio c da outras providcncias.
199 Decreto n" 515 — de 18-1-62
Aprova 0 Regulamcnto do Servigo Atuarial, do Ministerio do Trabaiho e Prcvidencia Social,
200 Decreto n'-' 534 — de 23-1-62
Aprova o Regimento da Secretaria do Comer cio do Ministerio da Indiistria e do Comercio.
201 _ Decreto n" 569 — dc 2-2-62 -- Re gulamenta OS seguros dos bens das cntidades govcrnamcntais,
202 - Portaria DNSPC n^ 4 - de 20-2-62 _ Expede instrugoes para a distribuigao do cossequro em cumprimento ao disposto no pa ragrafo linico do art. 2" do Decreto n" 569, dc 2-2-62.
203 Decreto ii" 736 — dc 16-3-62
Dispoe sobre a instituigao do Seguro de Cre dito a Exportagao e da outras providencias.
204 — Portaria DNSPC n- 16 — de 25-5-62 Baixa instrugoes sobre a libcragao dc bens, titulos da divida publica, titulos de renda e transfcrcncia de depositos bancarios, vinculados ao DNSPC, cm gnrnntia do Capital, Re servas Tecnicas c Fundo de Garantia dc Re trocessoes.
205 Decreto n" 1.224 -- de 22-6-62 Disp6e sobre o Seguro Agricola de Lavoura e Rebanhos financiudos pclos Bancos da UniSo oil de economia mista em que a Uniao seja acionista, c da outras providencias.
206 Portaria DNSPC n' 3 — de 18-1-63 Regulamenta o chlculo do ativo liquido das sociedades de seguros.
207 — Decreto n" 51 .993 — de 7-5-63
Dispoe sobre os bens o direitos das Companhias de seguros alemas.
208 — Decreto n" 52.099-A — de 10-6-63
— Reforma os Estatutos do Institute de Resscgiiros do Brasii — (I.R.B.).
209 — Decreto n" 52.430 — de 2-9-63
Autoriza o IPASE a assinar convi-nio com «A
Equitativa dos Estados Unidos do Brasii^, sociedade miitua de seguros gerais,
210 — Decreto n" 52.435 — de 2-9-63
Declara em vigor as condi^oes gerais e a (arifa do Seguro Pecuario de Equideos.
211 — Portaria DNSPC n" 33 —de 9-10-63
— Exclusao do caiculo do ativo liquido para determinagao do limite legal de Sociedades com sucursais no exterior.
212 — Decreto n" 52.905 — de 22-1163
Substitui a al-inea «C» da clSusula I do De creto n" 37.043, de 16-3-55.
213 — Decreto n" 53.964 — dc 11-6-64
Estabelcce normas para a colocagao no exte rior de seguros e resseguros.
214 — Lei n" 4.345 — de 26-6-64 — Institui novos valores dc vencimcntos para os servidore.s publicos civis do Poder Executivo, e da outras providencias.
215 — Decreto n'' 54.015 — de 13-7-64
Baixa normas para a exccugao no disposto no art. 9" e sens paragrafos da Lei n" 4.345 de 26-6-64.
poe sobre oi-u; de seguros alemas
216 — Lei n- 4.403 — de 14-9-64 — Disos bens c direitos das companhlas •mas.
217 — Portaria DNSPC n" 42 — dc 18-9-64 — Obriga as Sociedades estrangeiras a dcmonstrar no Balango anual, a ser enviado ao DNSPC, a movlmentagao da conta «Casn Matriz>, ocorrida durante o exerclcio a que se referir.
218 — Lei n" 4.430 — de 20-10-64 — Altera a Constitui;ao da Companhia Nacional de Seguro Agricola, e da outras providencias.
219 — Lei n" 4.504 — de 30-11-64 — Dis poe sobre o Estatuto da Terra, e da outras providencias.
220 — Decreto n" 55.204 — de 11-12-64
Inclui nas relagoes de que trata o Decreto n" 54.015, de 13-7-64, gs cargos que especlfica.
221 — Lei n" 4.591 — de 16-12-64
Uisp6e sobre o condoininio em edificagees e as incorporagdes imobiliarias.
222 — Decreto n' 55.245 — de 21-12-64
—• Dispoe sobre a corrctagem de seguros dos drgaos centralizados da Uniao. autarquias e so ciedades de economla mistn, em que haja participagao majoritaria do Poder Publico e da outras providencias,
223 — Lei n" 4.594 — de 29-12-64 — Reguia a piofissao de Corrctor de Seguros.
224 — Portaria DNSPC n" 5 — de 21-1-65
— Substitui as taxas cruzeiro pcla forma pcrcentua),
225 — Portaria DNSPC n' Q— de 5-2-65
— Autoriza a cobranga da taxa dc 25% nos contratos em que o segurado esta isento do imposto de selo.
226 — Decreto n'-' 55.801 — de 26-2-65 Regulnmenta as operagocs do seguro agricola.
227 — Decreto n" 55.876 — de 29-3-65 Altera o art, 31 dos Estatutos do Instituto de Resseguros do Brasii (I.R.B.), aprovados pelo Decreto n" 52.099-A, de 10-6-63,
228 — Decreto n' 55.899 — de 7-4-65 Aprova o Quadro Cera) de Acionistas da Com panhia Nacional de Seguros Agricolas.
229 — Portaria DNSPC n" 19 —de 19-4-65
— Aprova normas para a exccugao da Lei do Selo, no tocattte a contratos de seguro e capiializagao.
230 — Lei n'' 4.621 — de 30-4-65 — Dis poe sobre a subscrigao compulsbria de Obrigagoes Rcajustaveis do Tesouro Nacional, pelas pes.soa.s que recebem remuneragao classificavcl na cedula <C2 de rendimentos e da outras providencias.
231 — Portaria DNSPC n' 26 — de 30-4-65 — Dispoe sobre a reavaliagao do ativo das Sociedades de Seguros.
232 — Decreto n' 56.201 — dc 30-4-65 Abre, pelo Ministerio da Fazcnda, o.s crcditos espcciais autorizados pela Lei n" 4.4,30. dc 20-10-64, para os fins que especifica.
233 — Decreto n^' 56.230 — de 30-4-65 Indica o.s estabclecimcntos bantarios da Uniao para fins do disposto no art. 9'', letra «c» da Lei 2,168, de 11-1-54.
234 — Lei n" 4.678 — dc 16-6-65 — Dispoe .sobre o seguro de credito a exportagao, e da outras providencias.
235 — Portaria DNSPC n" 30 —de 30-7-65
— Disclpiina o envio de dociimeiitos individuais do incorporador e diretores das Socieda des de Seguros e Capitalizagao, alem dos obrigatorios pelo art. 35 do Decreto-Ici n" 2.063. dc 7-3-40,
236 — Decreto n" 56.696 — de 9-8-65 Altera o art. 1'' do Decreto n" 45.942 dc 29-4-59.
237 — Decreto n^' 56.900 — dc 23-9-65 DispSe sobre o regime de corretagem de se guros, na forma da r,a;i n" 4.594, de 29-12-64, e dii outras providencias.
238 — Decreto n" 56.503 —- de 24-9-65
Regulnmenta a profissao de Corretor de Se guros de Vida e de Capitalizagao, de conformidade com o art. 32 da Lei n" 4,594 de 29-12-64.
239 — Portaria DNSPC n° 42 — de 28-9-65
— Cria no DNSPC uma Comissao Consultiva Permanente para examinar c estudar a aplicabiiidade de novas modaiidades e pianos de se guros.
240 _ Portaria DNSPC n" 43 — de 5-11-65
Instrugoes sobre a obtengfio do Titulo dc Habilitagao c Carteira. dc Rcgistro pelos Corrctores de Seguros que sc entontravam na atividadc dc sun profissao.
241 Decreto n' 57.286 — cle 18-11-65
— Aprova o RcgulameiUo das Operagocs dc Seguro de Credito ii Exportagao.
242 — Decreto n" 57,339 — 25-n-65
— Retificn os Dccrctos ns, 54.015, dc 13-7-64, e 55.204. de 11-12-64.
243 — Decreto n" 57.396 — dc 7-12-65
Abre pelo Ministerio da Industria c do Comercio, a favor do Instituto de Resseguros do Brasii, o credito especial de Cr$ l.OOO.OOO.OOO.CO (hum bilhao de cruzeiros).
244 — Portaria DNSPC n^' 1 — de >9-1-66
— Aprova instrugoes refercntes a Lei do bclo (adicional de 10%) para conbecimento dos oigaos subordinados ao DNSPC c das soc.edade.s de seguros e capitalizagao,
245 — Portaria DNSPC n" 6 —de 17-2-66
— Documcntos necessaries cm cnso dc vacancia no cargo dc Diretor dc Companhia clc Seguros ou de Capitalizagao.
246 — Lei n'' 4.947 - de 6-4-66 normas de Direito Agrario, dispoe sobre o sistema de organizagao e funcionamcnto do 1mstituto Brasileiro de Reforma Agraria, e da outras providencias.
247 — Decreto n" 58.251 — dc 25-4-66
Altera o valor fixado pelo Decreto ii O.AJl. dc 29-6-40, para mercadorias que dcvcrao obngatoriamente pagar seguro contra riscos cm transportes.
248 — Lei n" 5.025 — de 10-6-66 — Dispoc sobre o intcrcaiiibio ccmcrcial com o bxterior, cria o Conselho Nacional do Comcrcio Exterior, e da outras providencias.
249 _ Portaria DNSPC n'' 18 — de 22-7-66
— Comissao dos seguros dos rnmos elementares e acidcntes do trabniho so podem scr pagas a Corretores dcvidamcntc rcgistrndos no DNSPC, ou ao BNH, na forma da legislagao cm vigor.
250 ~ Decreto n' 59.195 — de 8-9-66

Dispoe sobre a cobranga de premios dc segu ros privados c da outras providencias.
251 — Portaria DNSPC n" 23 —de 2L9-66 — Regulamenta a cobranga dc premios dc seguros.
252 — Circular Banco Central n" 54 — de 5.10-66 — Institui normas para a cobranga de premios pela rede bancaria,
253 — Decrcto-iei n" 24 .- de 19-10-66 Dispoe sobre a Lei n' 5.025. de lQ-7-66.
254 _ Lei n" 5.143 — de 20-10-66 — Ins titui o Imposto .sobre Operagocs Financeiras. regula a respcctiva cobranga. dispoe sobre a apiicagao das rcservas monetarias oriundas de sua reccitn e da outras providencias.
255 — Lei n" 5.159 -- de 21-10-66 - Au toriza a nbertura, pelo Ministerio da Industria
c do Comercio. do credito especial de CrS 1.500.000.000.00 (hum bilhao c quinhentos milhocs dc cruzeiros), a favor do Instituto de Resseguros do Brasii, destinado a garantir as responsabilidades a scrcm assumidas pelo Governo Federal no tocante ao seguro de credi to a exportagao, objcto da Lei n" 4.678. dc 16-6-65.
256 _ Portaria DNSPC n- 28 — de 21-10-66 — Mandato para agentcs ou rcprc.sentantcs das sociedades de seguros dos ramos elenientares c acidcntes do trabalho cmitirem apolices, c da outra.s normas.
257 —Portaria DNSPC n'-' 29-dc 25-10-66 Altera n Portaria DNSPC n' 23, de 21-9-66,
258 — Lei n" 5.172 — de 25-10-66 — Dis poe sobre o Sistcma Tributario Nacional e ins titui normas gerais de direito tributario aplicaveis a Uniao c Municipios.
259 _ Decreto m' 59.417 — de 26-10-66 Dispoe sobre a rcalizagao dos seguros de dr gaos do Poder Piiblico, e da outras provi dencias.
260 — Decreto n'-' 59.428 — de 27-10-66 Regulamenta os Capitiilos I e II do Titulo II. o Capitulo II do Titulo 111, c os artigos 81. 82. 83-. 91, >09, 111, 114, 125 e 126 da Lei n" 4.504. de 30-11-64; o artigo 22 do Dccrcto-lei n° 22.239, de 19-12-32, e os artigos 9. 10, 11, 12, 22 e 28 da Lei n" 4.947, dc 6-4-66.
26) Rcsolugao Banco Central n' 40 — de 28-10-66 — Baixa normas sobre o imposto dc Operagocs Financeiras.
262 — Dccreto-lci n" 32 — de 18-11-66 Institui o Cddigo Brasileiro do Ar.
263— Dccreto-lei n" 73 — do 21-11-66 Dispoe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operagocs dc seguros c resseguros e da-outra.s providencias.
264 — Rcsolugao do Conselho Tecnico do I R B nM 1 .394 — de 23-11-66 — Dctermina normas sobre o.s seguros de orgaos do Po der Publico.
265 Decreto n" 59.507 — dc 28-11-66 Rcqulamenta a Lei n" 5.025. de 10-6-66. e o De'crcto-lei n" 24, dc 19-10-66, que dispoem sobre c intcrcambio comercinl com o exterior, cria o Conselho Nacional do Comcrcio Exte rior e da outras providencias.
266 Circular do Banco Centra! n" 63 de 20-10-66 — Regulamenta dispo.sigoes sobre Operagocs Financeiras,
267 — Decrcto-lei n" 101 —- de 11-1-67
Modified disposilivo da Lei iv 5. 159, de 21-10-66. que autoriza a abertura, pelo Mini.sterio da Industria c do Comercio, do credito especial de Cr$ 1 .500.000.000.(X) (hum bilhao c quinhentos milhoes de cruzeiros), a favor do Instituto dc Rcssec|uio.s do Brasii. destinado a garantir as re.sponsabiiidades a scrcm assumi das pelo Governo Federal no tocante ao se guro de credito a exportagao. objeto da Lei n" 4.678, de 16-6-65.
268 — Decreto-lei n'' 168 — de 14-2-67
•Retifica dispositivos do Dccretolei n" 73. de 21-11-66, no que tange a aspcctos administrativos da SuperintendC-ncia de Scguros Privados (SUSEP).
269 — Decreto-lei n' 229 — de 28-2-67
Altera dispositivos da Consolidaijao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5,-152, de I"-5.43. e da outras providencias.
270 — Decreto-lei n' 261 — de 28-2-67
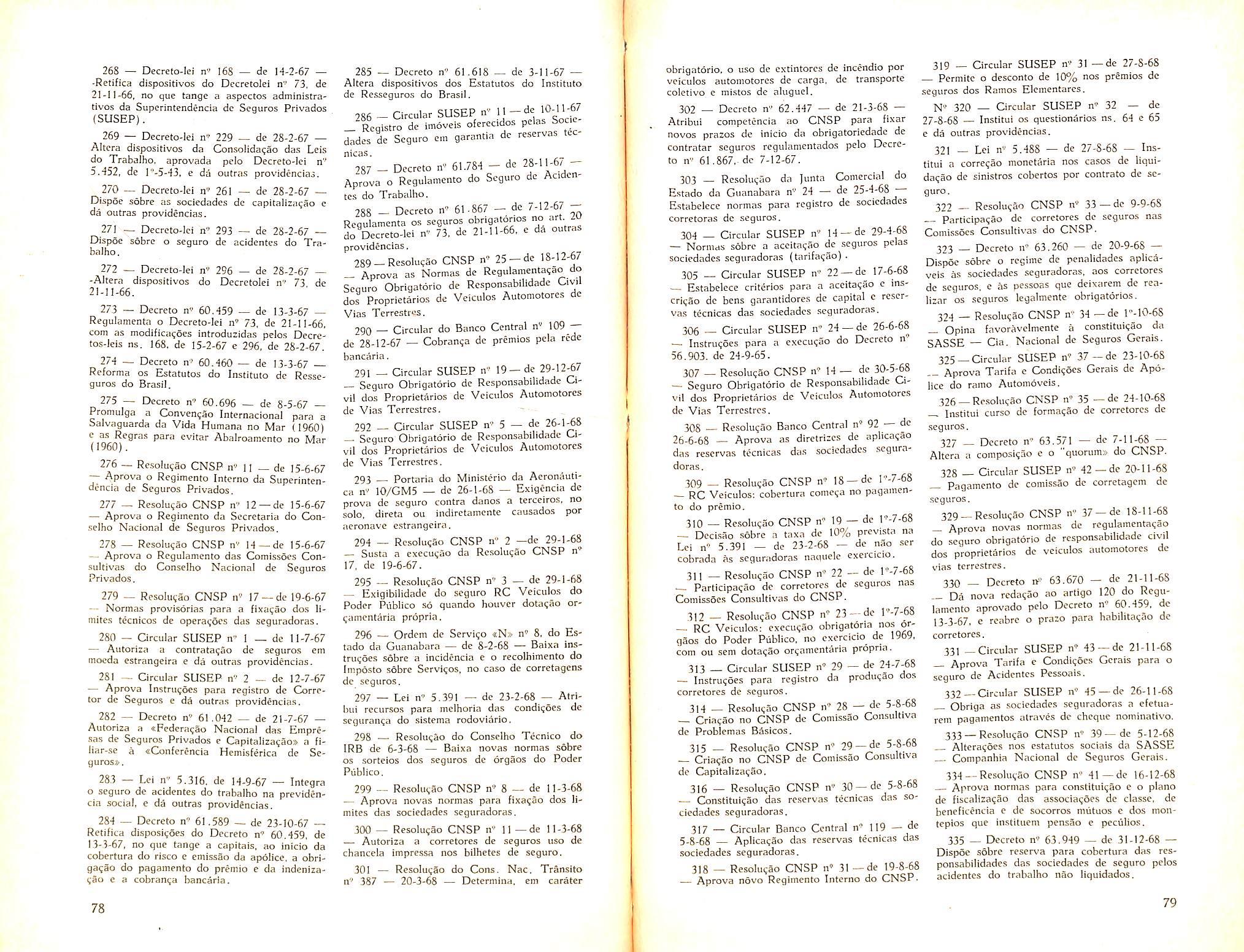
Dispoe sobre as sociedades de capitaiiza^ao e da outras providencias.
271 — Decreto-lei n' 293 — de 28-2-67
Dispoe sobre o seguro de acidentes do Tra balho.
272 — Decreto-lei n" 296 — de 28-2-67 -Altera dispositivos do Dccretolei n" 73 de 21-11-66.
273 — Decreto n'' 60.459 — de 13-3-67
Regulamentn o Decreto-lei n' "3, de 21-11-66, com as modificacoes introduzidas pelos Decretos-leis ns. 168, de 15-2-67 e 296, de 28-2-67.
274 — Decreto n' 60.460 — de 13-3-67 Reforms os Estatutos do Instituto de Resseguros do Brasil.
275 — Decreto n- 60.696 — de 8-5-67 Promulgp a Convcn^So Internacional para a balvaguarda da Vlda Humana no Mar (I960)
®V'tar Abalroamento no Mar
276 — Resolugao CNSP 11 — de 15-6-67
— Aprova o Regimento Interne da Siiperintendcncia de Seguros Privados.
277 — Resolugao CNSP n'' 12 — de 15-6-67
— Aprova o Regimento da Secretaria do Conselho Nacional de Scguros Privados.
278 — Resokigao CNSP n'' 14—de 15-6-67
— Aprova o Regulamento das Comissoes Consultivas do Conselho National de Seguros Privados.
279 — Resoliigao CNSP n" 17 — de 19-6-67
— - Normas provisorias para a fixagao dos 11mite.s tecnicos de opcragoes das seguradoras.
280 — Circular SUSEP n' 1 _ de 11-7-67
— Autoriza a contratagao de seguros em moeda estrnngeira e da outras providencias.
281 — Circular SUSEP n" 2 — de 12-7-67
— Aprova Instrugdes para registro de Corretor de Scguros e da outra.s providencias,
282 — Decreto n" 61.042 — de 21-7-67
Autoriza a sFederagao Nacional das Empre•sas de Seguros Privados e Capitalizagao» a filiar-.se a «Conferencia Hemisferica de Seguros».
28.3 — Lei n" 5.316. de 14-9-67 — Integra o seguro de acidentes do trabalho na previdencin social, e da outras providencias.
284 — Decreto n" 61.589 — de 23-10-67
Retifica di.sposigoes do Decreto n' 60.459, de 13-3-67, no que tange a capitals, ao inicio da cobertura do risco c emissao da apolice, a obrigagao do paganiento do premio e da indenizagao e a cobranga bancaria.
285 — Decreto n" 61-618 — de 3-11-67
Altera dispositivos dos Estatutos do Instituto de Re.s.seguros do Brasil.
286- Circular SUSEP n" 11-de 10-11-67
_ Registro de imoveis oferecidos pelas See dades de Seguro em garantia dc rescrvas nicas.
287 - Decreto n^ 61.784 - de 28-11-67Aprova o Regulamento do Seguro dc Acidcntcs do Trabalho.
288 — Decreto n' 61-867 — de 7-12-67 Regulamcnta os seguros obrigatonos no art, 20 do Decreto-lei n" 73. dc 21-11-66, e da outraS providencias,
289-Resolugao CNSP 25 —dc 18-12-67
— Aprova as Normas de Regulamentagao do Scquro Obrigatorio de Responsabilldade Civil dos Proprietaries de Veiculos Automotore.s de Vias Terrestros.
29Q — Circular do Banco Central n" 109 de 28-12-57 — Cobranga dc premios pela rede bancaria.
291 — Circular SUSEP n- 19— de 29-12^7
— Seguro Obrigatorio de Rcsponsabilidade Ci vil dos Proprletarios de Veiculos Automotorcs de Vias Terrcstres.
292 — Circular SUSEP n' 5 — do 26-1-^8
— Seguro Obrigatorio de Responsabilldade Ci vil dos Proprletarios dc Veiculos Automotores dc Vias Terre.stres.
293 — Portaria do Ministerio da Aeronautica 10/GM5 — dc 26-1-68 — Exigencia de prova dc seguro contra danos a tcrceiro-s, no solo, direta ou indirctamente causados por neronave e.strangcira.
294 _ Rcsolugao CNSP n" 2 —de 29-1-68
— Susta a execugao da Rcsolugao CNSP n" 17, de 19-6-67.
295 — Re.so]ugao CNSP n- 3 — de 29-1-68
— Exigibilidade do seguro RC Veiculos do Poder Publico so quando houvcr dotagao orgamentaria prdpria,
296 — Ordcm de Servigo «Ns. n" 8, do Estado da Guanabara — de 8-2-68 — Baixa instrugoes sobre a incidencia e o recolhimento do Imposto sobre Servigos, no caso de corretagens dc seguros.
297 — Lei n' 5.391 — de 23-2-68 — Atribui recursos para melhoria das condigocs de scguranga do sistema rodoviario.
298 — Rcsolugao do Conselho Tecnico do IRB de 6-3-68 — Baixa novas normas s6bre OS sorteios dos seguros de orgaos do Poder Publico.
299 _ Rcsolugao CNSP nM — de 11-3-68
— Aprova novas norma.s para fixagao dos limites das sociedades seguradoras.
300 — Rcsolugao CNSP n'' 11 —de 11-3-68
— Autoriza a corretores de seguros iiso de chanceia impressa nos bilhetes de seguro.
301 — RcsoIugSo do Cons. Nac. Transito n'' 387 — 20-3-68 — Determina, em carater
obrigatorio, o uso dc extintorcs de incendio per veiculos automotorcs de carga. de transporte coietivo e inl.stos de aluguel.
302 — Decreto n' 62.447 — de 21-3-68
Atribui competencia ao CNSP para fixar novos prazos de inicio da obrigatoricdadc de contratar seguros regulamentados pelo Decre to n" 61.867, dc 7-12-67.
303 _ Rcsolugao da Junta Comerda! do E.stado da Guanabara n^' 24 — de 25-4-68
E.stabclcce normas para registro de sociedades corretoras dc seguros.
304 — Circular SUSEP n" 14 —de 29-4-68
— Normas sobre a accitagao de .seguros pelas sociedade.s seguradoras (tarifagao).
305 — Circular SUSEP n^' 22 —de 17-6-68
— Estabelcce criterlos para a aceitagao e inscrigao dc bens gnrantidorcs de capital e rescr vas tecnicas das sociedades seguradoras,
306 — Circular SUSEP n" 24 —de 26-6-68
— Instrugoes para a execugao do Decreto n 56.903. de 24-9-65.
307 _ Rcsolugao CNSP n^ 14 — de 30-5^8
— Seguro Obrigatorio dc Rcsponsabilidade Ci vil dos Proprletarios de Veiculos Automotorcs de Vias Terrcstres.
308 — Rcsolugao Banco Central n» 92 — de 26-6-68 — Aprova as diretrizcs dc aplicagao das rescrvas tecnicas das sociedades segura doras.
309 - Re.solugao CNSP n" 18 —dc r'-7-68
— RC Veiculos; cobertura comega no pagamcnto do premio,
310 — Rcsolugao CNSP n" 19 — de 1'-7-68
— Dccisao sobre a taxa de 10% prevista na Lei n" 5.391 — de 23-2-68 — de nao ser cobrada as seguradoras naquele exercicio.
311 — Rcsolugao CNSP n" 22 - de U-7-6S
— Participagao de corretores de seguros nas Comissoes Consultivas do CNSP.
312 — Rcsolugao CNSP n' 23 —de l''-7-68
— RC Veiculos: execugao obrigatoria nos or gaos do Poder Publico, no exercicio de 1969, com ou sem dotagao orgamentaria propria.
313 — Circular SUSEP n» 29 — de 24-7-68
— Instrugoes para registro da produgao dos corretores de seguros.
314 _ Rcsolugao CNSP n' 28 — de 5-8-68
— Criagao no CNSP dc Comissao Consultiva de Problemas Basicos.
315 — Rcsolugao CNSP n" 29 —de 5-8-68
— Criagao no CNSP dc Comissao Consultiva de Capitalizaglio,
316 — Rcsolugao CNSP n^' 30 —dc 5-8-68
Constituigao das rescrvas tecnicas das so ciedades seguradoras.
317 — Circular Banco Central n" 119 — de 5.8-68 Aplicagao das rescrvas tecnicas das sociedades seguradoras.
318 — Rcsolugao CNSP n' .31 —de 19-8-68 Aprova ndvo Regimento Interne do CNSP-
319 — Circular SUSEP n^' 31 —de 27-S-68 Permltc 0 desconto de 10% nos premios de .seguros dos Ramos Elcinentares.
N" 320 Circular SUSEP 32 — de 27-8-68 — Institui os questionarios ns. 64 e 65 e da outras providencias.
321 — Lei n" 5.488 — de 27-8-68 — Ins titui a corrcgao monetaria nos casos de liquidagao de sinistros cobertos por contrato de se guro.
322 — Rcsolugao CNSP n" 33—dc 9-9-68
Participagao dc corretores dc seguro.s nas Comissoes Consultivas do CNSP-
323 Decreto n" 63.260 — de 20-9-68
Dispoe sobre o regime de penalidades aplicaveis as sociedades seguradoras, aos corretores dc seguros, c as pessoas que deixarem de realizar OS seguros legalmente obrigatorio.s.
324 — Rcsolugao CNSP n" 34 —de 1"-10-6S
_ Opina favoravelmente a constituigao da SASSE — Cia. Nacional de Seguros Gerais.
325_Circuiar SUSEP n' 37-dc 23-10-68
-- Aprova Tarifa c Condigoes Gerais de Apo lice do ramo Automoveis.
326 —Re.solugao CNSP n' 35 — dc 24-10-68
— Institui curso de formagao de corretores dc seguros.
327 Decreto n" 63.571 — dc 7-11-68
Altera a composigao e 0 "quorums do CNSP-
328 — Circular SUSEP n" 42 —de 20-11-68
— Pagamento dc comi.ssao dc corretagem de seguros.
329 — Rcsolugao CNSP n" 37 —de 18-11-68
— Aprova novas normas de regulamentagao do seguro obrigatorio de rcsponsabilidade civil dos proprietario-s dc veiculos automotores de vias terrcstres.
330 Decreto n" 63.670 — de 21-11-68
_ Da nova rcdagao ao artigo 120 do Regu lamento aprovado pelo Decreto n' 60.459, dc 13-3-67, c reabre o prazo para habihtagao de corretores.
331 —Circular SUSEP n" 43 — dc 21-11-68
— Aprova Tarifa e Condigoes Gerais para o seguro de Acidentes Pessoais,
332 —arcular SUSEP n' 45 — de 26-11-68 Obriga as sociedades seguradoras a efetuarem pagamentos atraves de cheque nominativo.
333 — Rcsolugao CNSP n'^ 39—de 5-12-68
Alteragoes nos estatutos sociais da SASSE Companhia Nacional dc Seguros Gerais.
334--ResD]ugao CNSP n" 41—de 16-12-68 Aprova normas para constituigao e o piano de fiscalizagao das associagoes de classe, de beneficencia e de socorros miituos e dos montepios que instituem pensao e peculios,
335 — Decreto n'-' 63.949 — dc 31-12-68 Dispoe sobre reserva para cobertura das responsabilidades das sociedades de seguro pelos acidentes do trabalho nao liquidados.
INDICE DE ASSUNTOS DO EMENTARIO DA LEGISLAgAO BRASILEIRA DE SEGUROS
(Os
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
Presidenle: CARLOS EDUARDO CAMARGO ARANHA
CONSELHO leCNICO; Arthur Cesar Ferreira Reis (Vica-Pres.)
Aguinaldo Costa Pereira
Alberico Ravedulti Bulcao
Egas Muniz Sanfhiago
Raul Telles Rudge
Ruy da'Silveira BriUo
CONSELHO FISCAL; Alberto VIeIra Souto (Piesidenie)
Olicio de OliveIra
Orlando da Sllva Machado
SUCURSAIS
Av. President* 197 — 228/230 HORIZONTE
Avenida Amazonas, 491/507 - 8." andar
Setor Bancario Sul (Ed. Segu radoras), Conjunto 2

Bloco B — 15.° andar
Rua Quinxe de Novembro 551/558 — l®-® andar
Avciiida Eduardo Ribeito 423 — 1.° andar
ALEGRE
Rua Siqueira Campos. 1.184 — 12.° anda<
Avenida Guararapei. 120 — 7 ° andar ^"^Lvador
I Rua da Grecia, 6 — 8.° andar
PAULO
AvMida Sao Joao, 313 — 11.° anda*
Sede: Avenida Marechal Camera, 171
Rio de Janeiro Brasll Dep«cl*mEi2to dt ImprcQSA NiAioosI

