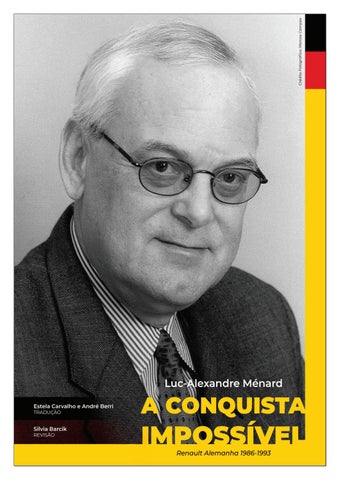1
2
Prefácio
As lembranças de Luc-Alexandre Ménard na Alemanha são apresentadas ao leitor em um momento em que este se sente afogado em meio às informações pessimistas sobre o cenário econômico da França. Com exceção ao que diz respeito à demografia, a vizinha Alemanha tem uma situação próspera. Em menos de vinte anos, ela conseguiu colocar a antiga República Democrática da Alemanha (RDA) – que se encontrava praticamente na mesma situação do pós-guerra até 1989 – no mesmo nível da primeira potência econômica do Continente e o menos endividado dos países europeus. Sua balança comercial altamente positiva reflete uma capacidade industrial de primeiro nível, o que contrasta cruelmente com a nossa, e nos vale os comentários mais pessimistas quanto ao valor de nossas empresas. Assim como o autor, para aqueles que tanto contribuíram para nossa indústria automobilística, é ainda pior ver uma montadora alemã promover na França suas qualidades tipicamente alemãs, fazendo afirmações em sua própria língua nos nossos canais de televisão, obrigando nossas empresas a retrucar em seu próprio terreno. Será que nossa indústria – principalmente o setor automobilístico, cujo peso é conhecido em toda nossa economia – deveria ser definitivamente relegada a um plano inferior? Este era o receio sentido pela Renault, principalmente a Renault Alemanha, no início dos anos 80. E foi a este receio que “a conquista impossível” respondeu magistralmente, cuja história o leitor conhecerá nas páginas seguintes. Quais foram as receitas desta conquista, que permitiram fazer com que a reputação da Renault passasse da montadora dos veículos que “enferrujavam no catálogo” (assim era conhecida a marca antes da chegada do autor na cidade alemã de Brühl) ao status de primeira importadora de automóveis na Alemanha, chegando por vezes a assumir a posição de primeira importadora da antiga República Democrática da Alemanha antes da reunificação, considerando todas as marcas. Apenas duas, como veremos a seguir. Em primeiro lugar, um trabalho de adequação do produto oferecido aos clientes locais, tanto em relação aos atributos – justificadamente reivindicados pelo novo dirigente da Renault Alemanha – como à qualidade, como consequência das exigências impostas pelo comando da empresa. Fundamental para o setor, o resultado em termos de imagem é relatado pelo autor. Em segundo lugar, o dinamismo deste novo dirigente, cuja experiência na área comercial fazia com que seus clientes não só apreciassem, mas ficassem satisfeitos com seus produtos. Acima de tudo, ele sabia conquistar, o que não foi demonstrado apenas pelos resultados mencionados anteriormente. Quando eu soube que ele tinha conseguido vencer uma concorrência da Deutsche Telecom, tenho que confessar que fiquei sem palavras. Em cada página, o leitor descobrirá as diferentes fases do que por todos foi considerada uma verdadeira epopeia, tendo em vista o desastroso ponto de partida e o glorioso ponto de chegada. Tanto desta epopeia como do sucesso quase impensável da Renault Alemanha ao ter retornado ao único nível que a ambição do autor poderia aceitar, gostaria que o leitor tirasse duas conclusões.
3
A primeira diz respeito à indústria francesa. Independentemente das dificuldades, em todos os níveis, o futuro da nossa indústria se baseia primeiramente nas pessoas e seu treinamento – também chamado de capacitação –, bem como o rigor e comprometimento a serviço da empresa, como podemos perceber nos nossos concorrentes alemães. A segunda diz respeito àqueles a quem o destino de nossas empresas é confiado. O autor deste livro é um belo exemplo, tanto em termos de origem, como formação, capacidade e comprometimento – em primeiro lugar a serviço de seu país e, depois, da Renault, a empresa à qual ele dedicaria sua vida. Depois das afirmações profundamente desagradáveis que eu mesmo tive que suportar alguns anos atrás, ao ver publicado o último artigo citado por LucAlexandre Ménard sob o título profundamente tocante “Adeus, Monsieur”, era sem dúvida ao Presidente da Renault a quem se dirigia a revista Auto Motor und Sport. E também, evidentemente, àquele quem, em seu domínio geográfico – repetindo aqui um comentário feito muitas vezes na época –, pôde dar um motivo de orgulho tanto à Renault como a toda indústria francesa. Raymond Lévy Presidente de honra da Renault
Luc-Alexandre Ménard e Raymond H. Lévy, em 1989.
4
I Ravensbrück
Atrás de mim fica a porta que comunica minha sala com a grande sala onde acontecem as reuniões mais importantes da empresa que dirijo há 6 anos. Naquele dia, os diretores da matriz, geralmente membros do comitê executivo do Grupo, encontram os diretores regionais. O comitê mensal é realizado principalmente para elaborar o planejamento comercial do quadrimestre seguinte. Contrariamente ao meu costume, passei o comando pela primeira vez à Udo Jordan, diretor comercial. Ele conhece sua equipe e sei que posso confiar nele. Do lado de fora, o tempo está agradável: contemplo o céu azul da região do Reno, e me interrogo mais sobre mim mesmo que sobre a Renault Alemanha, que comando desde 1986. Era o ano de 1992. Em cinco anos, as transformações foram substanciais. A Renault reconquistou a invejável posição de importadora de automóveis número 1, título que ela havia perdido desde o fim dos anos 80. Desta vez, com uma confortável margem de sucesso em relação aos seus concorrentes: três marcas japonesas e a Fiat! Nessa época, o mercado automobilístico alemão era o terceiro do mundo em tamanho, depois dos EUA e do Japão. Da mesma forma como acontece hoje, a Alemanha era um mercado de referência. Fazer sucesso no país vizinho significa ter produtos de grande qualidade, o que se estende a vários outros bens de capital. Alain Schoenborn entra no escritório. Ele parece preocupado, o que não é normal, e se senta à minha frente. Fazia pouco tempo que ele havia assumido a responsabilidade pelas áreas de Publicidade e Comunicação, principalmente as relações com a Imprensa. Nós nos entendemos bem. Ele nasceu antes da Guerra, na cidade Pontivy (o que reforça minha empatia, já que fiz todo o meu ensino médio na região de Morbihan). Filho de pai alemão e mãe francesa, ele se sente à vontade na Renault Alemanha, cujo misto de cultura francesa e alemã surpreendia tanto os (poucos) franceses vindos da matriz como os alemães contratados localmente. Sempre me surpreendi que a alta direção (como se diz) da Renault Alemanha tenha sido sempre tão francesa. Por isso, desde minha chegada, adotei como linha de conduta promover ou contratar executivos de nacionalidade alemã. Eu estava convencido que, assim, estaríamos mais próximos do mercado e de suas exigências. Este foi o caso do Alain, que passou a fazer parte do comitê de direção. Falamos a língua de Wagner, apesar de o francês dele ser excelente, bem melhor do que o alemão que aprendi quando tinha 40 anos, em Bonn. Mesmo na diretoria, a regra era utilizar o idioma germânico, já que normalmente a maior parte dos expatriados era bilíngue ou quase. Pelas suas primeiras palavras e, principalmente, pelo seu semblante, percebo que há um problema sério, caso contrário ele não teria entrado tão abruptamente. “Nossa expansão comercial na Alemanha Oriental está sendo questionada pela revista Stern”. Ele se referia a uma publicação com foco em negócios que é um misto de Paris Match e L’Express. E acrescentou: “O jornalista é agressivo e insistente”. Pergunto-me que erro poderíamos ter cometido, que passo em falso teríamos dado. É verdade que, desde fevereiro de 1990, graças a uma ação extremamente rápida, tínhamos partido para cima de todas as outras montadoras, inclusive das “TOP” alemãs. O objetivo era implantar
5
uma rede de concessionárias antes da reunificação. Desde a queda do Muro de Berlim, em novembro do ano anterior, isso nos parecia a cada dia mais inevitável. “A revista Stern pergunta especificamente à Renault se ela está decidida a continuar a construção de uma concessionária própria na cidade de Fürstenberg”. Eu conhecia mais ou menos de cor o nome das cidades das 240 concessionárias que tínhamos nomeado entre fevereiro e julho de 1990. Nunca havíamos considerado a possibilidade de construir uma concessionária própria. Com exceção destes últimos minutos, nem eu e nem Alain Schoenborn jamais havíamos ouvido falar de Fürstenberg. “Um agente (Renault Betrieb) planejou fazer uma reforma em suas instalações e está começando a construir uma oficina”, comenta Alain, quando imediatamente percebo minha ignorância. Em quase todos os países da Europa, há dois níveis no sistema de distribuição automobilística: no primeiro nível estão as concessionárias e, no segundo, os agentes, que contribuem para a capilaridade geográfica. Os agentes são nomeados em conjunto pelas concessionárias e a montadora. Para ser mais preciso, é importante dizer que as concessionárias são em sua maioria empresas privadas, mas algumas são simplesmente filiais das montadoras [nota dos tradutores: diferentemente do Brasil]. Resumindo, visto de longe por um jornalista especializado na distribuição de carros, para ele toda essa estrutura complexa se resumia em uma palavra: Renault. Schoenborn continuou, dizendo: “O ‘drama’ é que no território no município de Fürstenberg está localizado o antigo campo de concentração de Ravensbrück, cujo terreno voltou a fazer parte do município desde a retirada do Exército Vermelho, uma ocupação que se mantinha desde o fim da guerra. O município recuperou algumas áreas e começou a implantar uma pequena área industrial, cujo projeto foi chamado de Industrie Gebiet. A empresa especializada na reparação de veículos contatada para se tornar agente oficial da marca Renault (Autohaus Pinow) adquiriu um terreno para construir uma nova oficina (uma exigência que deveria ser atendida por todos os representantes da marca que haviam sido nomeados durante o primeiro semestre de 1990). Há uma grande placa perto do antigo campo de concentração dizendo: “Concessionária Renault em construção”, com o nome Renault em letras maiúsculas, naturalmente”. Compreendi de cara onde a revista Stern queria chegar e me calei. “A estrada do antigo campo de concentração dá acesso ao loteamento e aos terrenos”, acrescenta sutilmente Schoenborn. “Aquela que foi construída pelos detentos”, perguntei? “Não sei”, disse ele. “Mas era isso mesmo. Ravensbrück era um campo de concentração para mulheres. Submetidas a trabalhos forçados, elas foram obrigadas a construir esta via de acesso. Entre as diferentes nacionalidades das prisioneiras, muitas eram francesas, membros da resistência. Na França, essa estrada se tornou “sagrada”, pois pertence à trágica história dos nossos dois países e, por isso, tem um grande valor simbólico. Acredito que o questionamento da revista Stern vem deste fato e eles querem saber o que nós pensamos a respeito disso, em nossa condição de empresa francesa”. Imediatamente que este episódio resultaria em um dano inaceitável em termos de imagem.
6
Enquanto isso, outros veículos de comunicação haviam se manifestado, principalmente o canal de rádio e TV Norddeutscher Rundfunk e vários outros jornais, sucessivamente. Hoje, com a internet, a divulgação da informação aconteceria de forma muito mais rápida, mas naquele momento o acúmulo de perguntas que recebíamos em apenas alguns minutos era incomum, demonstrando, às vezes, o alto valor emocional do assunto. Além disso, recebemos por fax a cópia de um manuscrito enviado ao prefeito de Fürstenberg pelas francesas que haviam sido deportadas em Ravensbrück, com protestos acalorados contra o projeto em andamento. Fomos informados que o prefeito havia se recusado a responder uma carta que não havia sido redigida em alemão. Para piorar, alguns jornalistas perguntaram “o que o Sr. Levy, presidente da Renault”, pensava de sua subsidiária alemã neste caso. O diretor comercial se juntou a nós. Em sua condição de articulador do desenvolvimento da rede de distribuição, ele conversou com o diretor regional de Berlim Oriental, que tinha sob sua responsabilidade todo o território da antiga RDA. Este confirmou que uma empresa especializada na reparação de veículos havia adquirido um terreno para construir uma nova oficina, tendo ali colocado uma placa com o nome da Renault. Já havia sido investida uma soma considerável, de 300.000 marcos alemães. Aos olhos dos passantes, a Renault estava construindo próximo a um campo de concentração e, aparentemente, equipes de televisão alemãs estavam em vias de chegar ao local. Minha decisão sobre o que deveria ser feito já estava tomada, mas eu nada disse a respeito. Contrariamente à opinião comumente propagada na França, a gestão não é piramidal na Alemanha e o presidente do comitê de direção não é aquele que literalmente “está à frente”, como uma espécie de “o primeiro entre iguais” [primus inter pares]. No que diz respeito às decisões multidisciplinares, ele deve entrar em consenso com seus colegas. Isso explica a lentidão do processo de decisão alemã no alto escalão, encontrada tanto na política como nas relações sociais. Considerada pelos franceses como uma perda de tempo, esta busca pelo consenso (Zustimmung) evidencia o uso de uma temível eficácia na implantação e tomada de decisões. Assim, fizemos uma pequena mesa redonda. Eram 11 horas, talvez 11h30, e era preciso dar uma resposta rapidamente, pelo menos antes dos jornais de meio-dia ou da noite. Fui totalmente surpreendido pelas reações de meus colegas. Com razão, eles argumentaram que apenas do ponto de vista urbanístico, o agente (o senhor Pinow, que ainda vende produtos do grupo Renault), não havia feito nada de errado. Além disso, a Renault Alemanha e suas equipes podiam se orgulhar de terem construído (o que é outra história) em seis meses, ou seja, de fevereiro a julho de 1990, uma rede com 240 novas concessionárias prontas para vender quando a reunificação fosse concretizada e que, de qualquer forma, uma concessionária Renault em Fürstenberg seria apenas mais um ponto da rede comercial (em alemão, rede se diz Netz, ou malha). A balança pendia claramente para que o reparador continuasse o seu investimento sem interferências históricas, mesmo que a iniciativa, logicamente, não viesse da Renault, mas de um empreendedor privado. Mesmo sabendo que havia uma bela placa anunciando “Oficina Renault em construção” na entrada do terreno. Mas temos que concordar que o nome “Renault” chama a atenção. Retomei a palavra após ter escutado pacientemente. Isso seria uma façanha para um francês – para os latinos em geral e, portanto, para mim – um povo habituado a interromper a fala dos
7
outros, enquanto que os alemães têm que esperar até o fim da frase devido à importância da partícula que só é ouvida no final. “Acredito que não podemos reagir desta forma”, argumentei. Em relação à imprensa nacional, não há diferença entre o agente, uma empresa privada, eventualmente a concessionária à qual ele está ligado, ou a Renault Alemanha (que ocupa o primeiro lugar em faturamento entre as empresas francesas instaladas na Alemanha), e até mesmo a matriz da Renault. O campo de concentração Ravensbrück, para onde foi deportado um grande número de mulheres membros da resistência e, além de muitas francesas, está arraigado na memória coletiva, como Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Marie-Hélène Lefaucheux, cujo marido, também um grande membro da resistência, foi o primeiro Presidente da Renault quando ela se tornou empresa nacionalizada após a guerra. Sob meu ponto de vista, é impensável que o nome da Renault possa aparecer em uma concessionária no distrito industrial construído sobre o antigo campo de concentração. “Portanto, sugiro ligar para a revista Stern – e os outros veículos de imprensa – para explicar que se trata de uma iniciativa privada. Mesmo que a Renault não seja responsável pela construção, é a Renault que aparece. Portanto, se o empresário mantiver a intenção de construí-la, a empresa não vai permitir a utilização da sinalização corporativa e vai cancelar sua licença”. Decidimos então solicitar ao agente que ele desistisse do projeto e informamos que arcaríamos com os custos relacionados a esta decisão, o que foi feito de imediato. Logo em seguida, telefonei para a área de relações com a imprensa da Renault, para que eles informassem tudo isso ao Sr. Levy e, sobretudo, para alertar sobre eventuais repercussões na imprensa. Não houve repercussão alguma, pelo menos não imediatamente. Mesmo tendo passado tantos anos depois do ocorrido, não tenho certeza de que fomos bem compreendidos naquela época. Meus dois interlocutores aceitaram, mas não compreenderam totalmente o caráter da situação, como se eu estivesse em outro mundo – eles estavam totalmente focados na conquista da Europa Oriental que a Renault estava prestes a conseguir no próprio quintal das montadoras alemãs. Meia hora mais tarde, Alain Schoenborn voltou para me contar a reação dos jornalistas: eles haviam dito “então tudo bem” (quando, na verdade, eles haviam pensado “assim fica melhor pra vocês”). E então eles partiram pra cima de outros investidores do distrito industrial, como pôde ser visto posteriormente. Para mim, o caso estava encerrado e fizemos tudo para que o agente encontrasse rapidamente outro terreno. À noite, peguei meu Renault 25 para ir até o centro de Bonn, onde ficava meu apartamento. Havia um pequeno trecho da rodovia sem limite de velocidade e pouco trânsito naquela época, portanto era sempre um prazer acelerar um pouco mais (agora isso é impossível). Passei em frente a uma famosa fábrica de fuzis (Mauser) e cheguei a tempo de assistir ao noticiário pelos canais ARD e ZDF. Foi quando me surpreendi ao ver uma reportagem especial sobre o parque industrial e comercial do campo de concentração de Ravensbrück, que fustigava a rede de lojas Kaiser, a qual estava prestes a abrir um pequeno supermercado naquele local e não queria mudar de ideia. Eu dormi o sono dos justos: como bom operário, eu havia defendido a reputação da marca e, logicamente, muito mais do que isso!
8
Portanto, caso encerrado! No entanto, as brasas ainda estavam ardendo e o fogo estava voltando a “acender”. Meses mais tarde, segundo me lembro, era junho de 1991, Erika Brings, minha assistente, com aquele ar de quem não tem nada a ver com isso - que às vezes ela tinha, e que não era um bom presságio - veio me mostrar um clipping da Agência Francesa de Notícias, redigido pelo escritório sediado em Bonn. O documento dizia que a Renault estava construindo uma concessionária no campo de concentração de Ravensbrück. Fiquei sem voz, pois sabia que a mídia internacional tomaria conhecimento deste fato. Imediatamente, pedi para falar com o diretor responsável pela Agência Francesa de Notícias (AFP) na Alemanha, com quem eu matinha relações cordiais, sobretudo após a queda do muro de Berlim e sua sucessão de ações midiáticas. Eu expliquei a ele que a informação divulgada por ele estava errada por dois motivos> Em primeiro lugar, não era a Renault que tinha a intenção de construir uma oficina, mas um agente particular. Além disso, a Renault o havia notificado com bastante antecedência que ele perderia o direito à representação da marca se mantivesse o plano de se instalar no local designado pelo município nos arredores do campo de concentração. Também informei que ele já estava procurando outro local com nosso apoio. Ele se desculpou e preparou imediatamente uma nota de retificação, pela qual agradeci. Mas o primeiro clipping já havia provocado reações: minutos após nossa conversa, recebi um telefonema da TF1 (canal de TV francês) de Berlim. O correspondente da emissora queria ir a Fürstenberg para encontrar o Sr. Pinow – e com a câmera a tiracolo. Com diplomacia e paciência, expliquei novamente os fatos e ele desistiu de enviar uma equipe de televisão que teria dado a ele a oportunidade de encontrar o supermercado Kaiser. Em julho, houve uma terceira tentativa, no sentido de mencionar o assunto no jornal Le Monde. Naquele momento, a primeira página estava reservada a um tema escolhido pela redação. A reunificação da Alemanha voltaria a ocupar a primeira página e o correspondente do jornal em Berlim voltou a criticar o fato de que a Renault iria construir uma concessionária no terreno de Ravensbrück. Fiquei particularmente contrariado com a situação e me senti assim até há pouco tempo, principalmente porque sempre mantive relações amigáveis e frequentes com o correspondente do jornal Le Monde em Bonn (e não em Berlim, que não era o meu domicílio). Foi em parte graças a ele e à presença de espírito demonstrada por ele nas matérias publicadas no início de 1989 que eu me convenci que a reunificação seria inevitável. Seus relatos dos extraordinários eventos que aconteceram em Praga e em Budapeste antes da queda do Muro, onde se refugiaram cidadãos da antiga Alemanha Oriental, foram tão impressionantes que eu comecei a me questionar a respeito da presença da Renault, da Renault Alemanha, e até a fronteira com a Polônia, conhecida como Linha Oder-Neisse. Obviamente, alertei a matriz da empresa em Boulogne-Billancourt. Para todos os fins, era época de verão, cuja calmaria impactava nos negócios. Ficou por isso mesmo. Aprendi bastante tanto sobre a Alemanha como sobre a difícil arte da comunicação. Tudo isso aconteceu porque a Renault havia decidido conquistar o lado oriental e não deixar espaço para as empresas alemãs. Uma invasão pacífica, cujo sucesso teve repercussões positivas para a marca. Um incidente tão grave como o de Ravensbrück poderia ter arruinado, em parte, o que havia sido construído durante dois anos, com tanta eficácia. Foi em Erfurt que esta “aventura” começou.
9
II Erfurt
Erfurt fica no Estado da Turíngia. Antes da queda do muro de Berlim e o início do fim do regime da República Democrática da Alemanha, ir àquela localidade não era impossível apenas para um estrangeiro: os cidadãos da Alemanha Ocidental só podiam ir até lá mediante autorização cedida em caráter extraordinário pelas autoridades consulares da Alemanha Oriental e por motivos familiares, e isso apenas depois da política de “abertura” para o Leste, promovida pelo Chanceler Willy Brandt. Em março de 1970, foi nesta cidade que o Chanceler encontrou seu homólogo do Leste, que também era seu homônimo – Willi Stoph –, o que veio a ser a primeira reunião deste tipo desde a divisão da Alemanha. Além disso, Erfurt é a capital do Estado da Turíngia, algo que é do conhecimento dos franceses devido ao encontro ocorrido naquela cidade entre Napoleão I e o czar Alexandre I, em 1808. Lá, eles renovaram a Aliança firmada entre eles desde os Tratados de Tilsit (hoje Sovetsk). Eu tinha um encontro no Fischermarkt, a praça do mercado de peixes, no centro da cidade. É um local tão extraordinário que sequer sofreu com o bombardeio aliado durante a Segunda Guerra, hoje completamente restaurado. Era 20 de janeiro de 1990. Havíamos chegado às 8h30. O céu estava cinzento e triste. Havia uma leve neblina e um cheiro persistente de lignito, característico do lado oriental. Os prédios e monumentos eram sombrios, como se estivessem cobertos de fuligem. Éramos uma delegação de aproximadamente oito pessoas, e estávamos aguardando a chegada do diretor da concessionária de Berlim Oeste, que deveria se juntar a nós logo após passar pela “blitz” policial. Três rodovias com velocidade limitada a 100 km/h formavam os dois cordões umbilicais terrestres de Berlim Oeste com a Alemanha Ocidental. Apenas três. Lembro-me de ter atravessado o bloqueio de Berlim Oeste em fevereiro de 1990 e, munido dos documentos necessários, fui até Leipzig e depois a Dresden para ir até a Tchecoslováquia via Saxônia. Chegando ao hotel em Dresden, tanto meu passaporte como os dos meus familiares foram confiscados, já que não tínhamos os carimbos certos, mas eles foram devolvidos no dia seguinte. Apesar de deteriorado, o hotel de Erfurt onde nos reuniríamos estava limpo e em ordem, com seu mobiliário simples e barato. Comuns às democracias populares, trata-se de um tipo de conformismo relativo à ideia de conforto espartano e modesto – deprimente, mas igualitário. Essa atmosfera inimitável também era encontrada nos escritórios da Stasi (principal organização de polícia secreta e inteligência da Alemanha Oriental), como viríamos a saber mais tarde, ou nos ministérios que eu viria a visitar, ou ainda os escritórios da “Câmara do Povo”, no final da avenida Unter der Linden, que começa na Porta de Brandemburgo, em Berlim. Esta frugalidade era percebida até mesmo no conjunto residencial reservado aos dirigentes do partido e à Nomenklatura (a casta dirigente) da Alemanha Oriental. Localizado na região rural de Berlim, o acesso restrito era semelhante aos atuais condomínios fechados da América do Sul. Apesar de não haver lugar para luxo, eles tinham tudo o que precisavam, mas que dificilmente estaria disponível para os demais cidadãos. As reportagens da TV se encarregaram de mostrar todos estes lugares depois da reunificação. Fui dar uma volta na praça, que estava completamente vazia. Apenas alguns automóveis Trabant e Wartburg, que viriam depois a se tornar objetos de coleção, raros pedestres e uma 10
banca de jornal empoeirada, onde assim mesmo era possível comprar edições antigas do jornal francês L’Humanité. Antes de chegar a Erfurt, é preciso voltar à sequência de circunstâncias e eventos que me levaram a esta cidade. Como responsável pela Renault – apenas para a Alemanha Ocidental –, notei os primeiros movimentos sociais que surgiram no lado oriental por volta de maio e junho de 1989. Nas férias, os alemães orientais iam muito para a Hungria (de preferência para as margens do lago Balaton), Bulgária ou Romênia, às margens do Mar Negro. Ou seja, eles rumavam para democracias populares vizinhas reunidas pelo Pacto de Varsóvia sob a vigilância da União Soviética, cuja mão de ferro já não era mais tão firme desde o insucesso no Afeganistão e por ter que se dobrar diante do Partido Solidariedade da Polônia. Passando por países irmãos menos rígidos que a Alemanha Oriental, esse desvio geográfico era indispensável para quem tinha intenção de fugir. Simbolizada principalmente pelo cerco de Berlim Oeste, nossa visão da separação física era cimentada pelos altos muros sobre os quais havia arame farpado. Na realidade, a Cortina de Ferro mencionada figurativamente por Winston Churchill, em 1948, se estendia propriamente do Mar Báltico até o Sul da Áustria, com postos de vigilância a cada 2 km e vilarejos divididos em dois, se o traçado assim o exigisse. Apesar de ser raro atravessar a fronteira, fiz isso várias vezes, sendo sempre invadido pelo sentimento de desolação. Os mais audaciosos eram em sua maioria jovens, sozinhos, mas também havia famílias inteiras que tomavam a decisão de não saírem de férias e optavam pelo exílio. Desde a edificação do muro, em 1961, o movimento massivo de emigração da área ocupada pela União Soviética para as três zonas ocidentais era possível apenas com risco de vida. Aproximadamente 3 milhões de cidadãos da Alemanha Oriental tinham se refugiado no Oeste antes da construção do muro. A hemorragia havia sido contida, mas retomava fôlego por via indireta em meados de 1989. O fluxo estava longe de ser insignificante, já que era possível ver dezenas de milhares de pessoas podiam amontoadas nas embaixadas tcheca e húngara da Alemanha Ocidental. A diferença entre a opulência do lado ocidental e a estagnação do lado oriental só aumentava. Graças à televisão, a informação era compartilhada e a propaganda política não era capaz de justificar tal diferença no nível de vida. A implacável rede policial de vigilância e a onipresença do Exército Vermelho mantinham a lei e a ordem. Estima-se que um em cada dez alemães orientais contribuía com a Stasi em caráter oficioso. O contato com estrangeiros era extremamente vigiado e fiquei bastante chocado com o acontecimento que vou relatar a seguir. Encontrei ao acaso um representante da metalúrgica francesa Pechiney para o lado oriental. Isso aconteceu em um evento na cidade de Bad Godesberg, perto de Bonn. Era o Rheinhotel Dreesen, um antigo edifício que entrou para a história porque foi lá que Hitler se hospedava antes da guerra. Localizado às margens do Reno, está voltado para a montanha Petersberg, onde o ditador alemão encontrou Neville Chamberlain (Primeiro-Ministro do Reino Unido). Ele ficava logo abaixo da Chancelaria da Embaixada da França, construída depois da Segunda Guerra e transferida posteriormente para Berlim. A empresa francesa tinha instalado uma representação permanente no Hotel Dreesen, em salas reservadas para esta finalidade pelo regime, em uma grande torre branca, em frente ao hospital de caridade. Meu interlocutor havia feito amizade com um jovem engenheiro da Alemanha Oriental, a quem encontrava com frequência. Uma noite, dois meses depois, este jovem foi preso aos pés da torre pelos policiais da Stasi. Isso aconteceu em 1989.
11
Simbolizada pelas luzes que irradiavam da grande artéria comercial de Berlim Ocidental, a avenida Kurfürstendamm, a atração pelo Ocidente tinha um grande papel na motivação daqueles que tomavam a decisão de fugir. Eu diria até que o verdadeiro motivo não era a sociedade de consumo, mas sim a conquista do simples direito de ir e vir. Mesmo que a nova economia de livre concorrência tenha sido dura para os alemães orientais, até então acostumados com o assistencialismo de um Estado protetor, a possibilidade de ser livre era o motor desta revolução silenciosa. Na antiga Alemanha Oriental, a Renault não vendia nada, ou praticamente nada. Um escritório em Paris atendia os países do Leste, mas não para vender carros, pois isso era praticamente impossível devido ao comércio estatal praticado na região. Na verdade, os contatos na esfera industrial eram impossíveis devido à terrível falta de divisas já que sua moeda, o Ostmark, não podia ser convertida. Tivemos bons resultados em termos de relações internacionais, como as parcerias de fornecimentos para a montadora russa Moskvitch e a romena Dacia, que montava o antigo Renault 12 (lançado na França em 1969 e retirado do mercado há muito tempo). A Citroën também estava presente naquele país com a marca Oltcit, cujas raras exportações para a França não deixaram apenas boas lembranças. Na Alemanha Oriental, os contratos de fornecimento feitos pelas marcas de automóveis francesas não foram numerosos, com exceção da Citroën: um de seus modelos, o BX, servia de “permuta” para os veículos funcionais de alguns oficiais. Não havia, a priori, razão alguma para que eu metesse meu nariz de comerciante em um território que não havia sido atribuído a mim, onde não havia mercado com liquidez. Mas este ponto de vista não me tranquilizava e eu acabei por arquitetar outra hipótese. Se o movimento de rejeição e expatriação atingia proporções consideráveis a ponto de a fronteira entre a Hungria e a Áustria ter sido aberta, transformando-se em crise política e depois crise do regime (o que seria totalmente inimaginável em junho de 1989), o que iriam fazer as duas Alemanhas? Na mais pura suposição, se elas se tornassem apenas uma (com a Reunificação), a Renault Alemanha teria que fazer planos para este cenário. Neste caso, não havia dúvida alguma que a economia ocidental irrigaria a oriental. Não poderíamos absolutamente nos distanciar de nossos concorrentes alemães, que por princípio estavam mais bem colocados. Como manter a calma diante desta situação? E mais ainda: como se assegurar de tomar decisões acertadas? Evidentemente, recebíamos informações de todos os lados. Mas também havia minha análise pessoal. Eu ia semanalmente à outra Alemanha (mais para visitar os parques industriais e as concessionárias do que para ver os tesouros arquiteturais do país) e a língua de Goethe que antes eu apenas balbuciava começava a se tornar a cada dia mais familiar para mim. Eu não falava só sobre pedidos de compra, penetração do mercado, qualidade da oficina e objetivos a ser atingidos, que era um interesse comum entre os diretores comerciais da indústria automobilística (vamos voltar a falar sobre a qualidade mais tarde). Com o decorrer do tempo, construí uma relação mais aberta com meus interlocutores e as conversas se tornaram mais abertas e amigáveis. Acabei me dando conta do número de famílias separadas devido à divisão do país em 1961. Era algo comum e o desejo de reunificação estava presente no ar, como um sonho impossível que se queria alcançar, mas que ninguém ousava verbalizar. Os políticos não se arriscavam e não podiam sequer abordar a questão, salvo de maneira homeopática, como fez Willy Brandt. De repente, o movimento de êxodo em massa das pessoas que viajavam de férias para as democracias populares vizinhas, além dos enormes cortejos de manifestantes todas as terças-feiras à noite em Leipzig, começavam a estremecer a mão de ferro de Erich Honecker. O secretário-geral do Partido Socialista Unificado da Alemanha Oriental tinha 12
recém-chegado de uma viagem oficial da Alemanha Ocidental para visitar o estado de Sarre, onde ele havia nascido. Foi uma viagem criticada, mas no final deu tudo certo. Seis meses antes da queda do muro, eu não poderia deixar de pressentir sua fragilidade política. Minha intuição acabou sendo confirmada por quatro encontros em três meses que iriam mudar o destino da presença da Renault na Alemanha e decidi aceitar o risco. Primeiro com Luc Rosenzweig, correspondente do jornal Le Monde em Bonn, cujas matérias eram “fulgurantes” e bem diferentes do estilo administrativo e tecnocrata do seu jornal. Nós nos víamos frequentemente; ele viajava por toda parte e, durante um simples jantar regado a sardinhas grelhadas (o que é bom para um bretão), em um pequeno restaurante espanhol de Bonn, anunciei minha intenção de vender para “o outro lado”, perguntando a ele, sem rodeios, se eu estava sonhando. Ele me contou o que havia visto na Tchecoslováquia, a influência das igrejas, principalmente a obediência luterana, com suas marchas com tochas em Leipzig, e a indecisão do Partido diante de um movimento tão novo. Ele também insistiu a respeito da fraqueza da União Soviética, que não repetiria o mesmo drama de 1956 na Hungria, ou na Tchecoslováquia em 1968, apesar da presença de suas tropas na Alemanha Oriental. “Tudo isso vai desmoronar a qualquer momento, mas é difícil prever o que acontecerá depois. Nada impede de planejar etapas; pode dar certo”, concluiu ele, rindo. Paul Percie du Sert, que estava acima do meu chefe como diretor comercial mundial da marca, foi a segunda pessoa. Em setembro, ele havia vindo à cidade de Mainz para o lançamento de uma nova versão do Renault 21. Na Alemanha, os resultados desse modelo do segmento médio superior haviam sido extremamente medíocres, para o meu desespero. Ele fez uma apresentação para pouco mais de 1.000 membros da rede de concessionárias, que estavam reunidos no Rheinallee. Ele fez questão de discursar em alemão – e essa foi certamente a última vez. Saímos antes do término do show que é comum acontecer neste tipo de evento, pois ele tinha que voltar para Paris. Assim como sua disposição, ele estava sempre a mil e envolvido em várias coisas ao mesmo tempo. Estávamos sentados em uma mureta de pedra, quando ele me disse subitamente: “Vá para o Leste!”. Evidentemente, era tudo o que eu queria ouvir, mas eu disse a ele que, oficialmente, não tinha essa atribuição. Eu sabia qual seria sua resposta antes mesmo de ser proferida: “Vá e pronto; não estamos nem aí para isso (forma educada)”. Algumas semanas mais tarde, os acontecimentos me levariam a Berlim Oriental, sem sofrer com os comentários dos controllers em relação aos organogramas da matriz. Já o Sr. Lacombe era ministro plenipotenciário (uma espécie de dirigente de missão diplomática) e responsável pelas questões econômicas na Embaixada. Ele havia ocupado um cargo em Moscou anteriormente e eu confiava em seus julgamentos. Em dezembro de 1989 e, portanto, algumas semanas depois da queda do muro de Berlim, eu comuniquei a ele minha ideia de conquistar comercialmente o Leste caso o movimento de reunificação se consolidasse. Na Embaixada, as opiniões eram divergentes, na maioria das vezes circunspectas, ainda mais que as autoridades francesas não eram entusiastas da ideia. Naquela época, pela primeira vez um periódico semanal francês dedicava a primeira página ao tema Grosse Allemagne, uma tradução preguiçosa do adjetivo Groß, que significa “grande”. O ministro Lacombe me disse que eu não tinha nada a perder, mas fez uma descrição metafórica do estado lamentável da economia da União Soviética e da reputação totalmente exagerada da Alemanha Oriental, uma falsa sétima potência econômica mundial. Ou seja, como diziam os banqueiros, aquilo que estava subjacente (a infraestrutura, no jargão marxista), poderia ser o presságio de um 13
desmoronamento do regime e sua absorção pelo lado ocidental. Já era tarde, e eu não estava ali por acaso – voltei com minhas convicções fortalecidas. Finalmente, Joachim Bitterlich. Ele era o braço direito do conselheiro diplomático de Helmut Kohl, que encontrei pela primeira vez em uma reunião de ex-alunos alemães da Escola Nacional de Administração da França, que não são poucos e representavam grande parte dos alunos estrangeiros da escola. Desde então, nos encontramos no Liceu Franco-Alemão, do qual fui presidente mediante solicitação do Embaixador da França. Joachim Bitterlich tinha matriculado seus filhos naquela instituição, já que era casado com uma francesa. Ele aceitou meu pedido para formarmos uma equipe. Foi uma boa ideia, pois tivemos que resolver problemas complicados em relação à parte fiscal no estado da Renânia do Norte-Vestefália. Ele me explicou rapidamente que a chancelaria tinha apenas uma ideia em vista: abrir caminho para a reunificação, apesar do ceticismo demonstrado pelo Partido Social Democrata e a política do “esperar para ver” do Ministério das Relações Exteriores, cujo próprio titular era nascido na Alemanha Oriental. Graças ao Joachim, ouso dizer que eu seguiria a linha de frente da brilhante manobra política e diplomática que levaria à reunificação, em onze meses. Assim, decidi me deslocar até o local – uma regra de ouro em gestão – era a primeira ou segunda semana de dezembro. Após ter avisado meu chefe que ultrapassaria a fronteira comercial (e a fronteira propriamente dita), peguei o avião da Air France para Berlim – uma das únicas companhias aéreas autorizadas a sobrevoar a Alemanha Oriental, respeitando escrupulosamente um dos três corredores aéreos de acesso determinados pelas autoridades soviéticas. Acompanhado de Ugo Jordan, diretor comercial, aterrissamos em Tegel, nos arredores de Berlim Ocidental, onde ficava o aeroporto ainda sob o controle das forças armadas da França. Chamamos um táxi Mercedes para usar do lado oriental e nos dirigimos ao Checkpoint Charlie (posto militar entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria), único ponto de passagem para quem não era alemão, esperando que as formalidades administrativas não se estendessem muito (o que podia demorar de 5 minutos a 3 horas ou mais). Tínhamos um primeiro encontro na Avenida Unter den Linden, na missão econômica da Embaixada da França, na Alemanha Oriental. O prédio estava em péssimas condições e a recepção foi estimulante. O responsável pelo setor não fez rodeios e, com uma liberdade claramente resultante dos acontecimentos, mostrou os microfones que monitoravam o que estava sendo dito. Ele disse que toda a economia estava supervalorizada e que a pretensão de ser a sétima potência industrial do mundo era evidentemente superestimada. Ele nos mostrou uma série de publicações, com estatísticas que qualificava como grosseiramente falsas (“o que todo mundo naturalmente sabe”, comentou). Uma de minhas principais dúvidas era saber se, com um regime na corda bamba, seriam possíveis parcerias industriais com uma das várias empresas do setor automobilístico (aproximadamente 60 organismos estatais). Sua resposta foi prudente, mas sua convicção claramente negativa. Depois, visitamos um estabelecimento comercial estatal, o único local onde era possível comprar produtos importados do Ocidente. Era um lugar reservado aos membros do Partido e altos funcionários. Uma minúscula gota de água no PIB do país. Um punhado de carros ocidentais era vendido anualmente, dentre os quais Renault – que podiam ser contados nos dedos de uma mão. Comprei quatro CDs de Dvořák a um preço imbatível em Ostmark (o marco alemão oriental). E aproveitamos para passar no Museu Pergamon que, por si só, já valia a viagem. 14
Fomos em seguida ao Ministério da Indústria, um edifício moderno localizado próximo à imponente Embaixada da União Soviética, cuja dimensão e arquitetura exprimiam a ligação de dominante e dominado que regia os dois Estados. Fomos recebidos educadamente (certamente sob escuta) e nossa conversa se manteve “acadêmica”: o que aconteceria com a economia da Alemanha Oriental? Existiriam eventuais oportunidades para trabalharmos juntos futuramente? Como substituir os antigos veículos Trabant e Wartburg? Neste clima de incerteza política que havia atingido seu apogeu, nossos interlocutores não podiam dizer nada e permaneceram diplomaticamente reticentes. Concluí que, provavelmente, eles estariam preocupados com seu próprio futuro. Voltando ao lado ocidental sem grandes problemas, aguardamos o avião de retorno para Colônia no aeroporto Berlim-Tegel. Naquela época não havia notebook e muito menos iPhone, iPad ou e-mail, e nem mesmo celular – com exceção dos carros. No canto de uma mesa, redigi um memorando diretamente para Raymond Levy (o que não era costume), que foi datilografado no dia seguinte. Pelo menos do meu ponto de vista, foi o mais importante de todos aqueles que escrevi na Alemanha. Era breve – apenas duas páginas. Não mais do que isso, pois era desnecessário: neste nível de responsabilidade, um memorando “político” deve ser conciso e objetivo. Se forem necessárias informações complementares, o sistema burocrático já seria mais do que suficiente. Eu nunca consegui deixar de trabalhar desta forma, o que aprendi durante os quatro anos que passei no Gabinete do Ministério do Interior, na Praça Beauveau, em Paris. Ao relatar minha viagem e fazendo um breve relatório das minhas conclusões após três meses de observações, resumi o seguinte: - Haveria uma reunificação. - Um sistema confederativo com dois bancos centrais era improvável. - O sistema econômico estatal estaria numa situação deplorável: deteriorado, ou obsoleto, na melhor das hipóteses (com exceção de algumas joias, como a Leica). - Uma parceria do tipo industrial não seria recomendável, mesmo que fosse desejável ou possível. - Estávamos considerando uma fusão / absorção – falando a língua dos financistas – ou, se preferir, uma reunificação pura e simples, com o desaparecimento do aparelho (ditatorial) do Estado. E acrescentei: em curto prazo, ou seja, em doze meses. Para concluir, afirmei que um novo território de 17 milhões de habitantes ingressaria no Mercado Comum e que deveríamos preparar a Renault e a Renault Alemanha para isso. Não pedi uma resposta de aprovação, mas indiquei que procuraria imediatamente as vias e meios de colocar minha empresa em condições de conquistar sua participação neste novo mercado. Tudo ficou como estava até o Natal, ou antevéspera do Natal. No lado ocidental, terminamos o ano com grande satisfação e mais de 100.000 carros vendidos pela primeira vez em dez anos. Estávamos a um passo de recuperar a posição de primeiro importador, que havia sido perdida para a Fiat no final dos anos 80. Essa é outra história que veremos mais tarde, mas ela tinha uma grande importância, tendo em vista a aposta que estávamos prestes a fazer na Alemanha Oriental.
15
Sem consulta prévia, a chancelaria publicou um plano com dez itens na antevéspera do Natal. No plano para “conduzir a reunificação”, toda a questão institucional (dois Estados, confederação, federação ou simples absorção) havia ficado no ar, mas a vontade de reunificar era clara. Nas entrelinhas, a leitura não deixava nenhuma dúvida a respeito do desejo de acabar com o regime comunista. Na véspera de Natal, eu falei com um concessionário ao telefone – Wolfgang Hermann, de Northeim, pequena cidade de 31 mil habitantes na Baixa Saxônia, bem próxima à fronteira com a Alemanha Oriental. Eu havia visitado a concessionária Renault Northeim GmbH no ano anterior, e seu proprietário havia me cativado pelas várias iniciativas comerciais e dinamismo. Ele havia aumentado bastante a presença da Renault. Detentor de quase 10% do mercado local, ele não media as palavras para dizer à montadora o que não estava indo bem. Quando a qualidade dos nossos produtos era ruim, nossas relações eram tensas, mas aos poucos se tornaram bastante cordiais, à medida que os produtos distribuídos atingiam a qualidade exigida. Mas ele não havia telefonado por este motivo. Pensando novamente nesta questão, cheguei à conclusão que seu telefonema era um sinal da providência. Ele disse: “sou Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Northeim. Nunca perdemos contato com nossos colegas do lado oriental, mesmo que eles tenham sido furtivos e extraoficiais e, nas últimas semanas, estes contatos se tornaram mais frequentes. É importante iniciar uma reaproximação e começar a construir algo na Alemanha Oriental. Mas, se você estiver de acordo, podemos utilizar as pequenas empresas que já existem no segmento de reparação de automóveis. Devemos evitar o sistema VEB (empresas estatais de reparação de automóveis, uma cópia do sistema Kolkhoz, uma espécie de sistema de cooperativismo da Rússia), pois ele seria impossível de gerenciar”. Será que ele sabia que nós já estávamos pensando à frente, fazendo nossa investida “pacífica” para o lado oriental? Não faço a mínima ideia, mas, apesar de ser uma circunstância improvável, nossos pensamentos convergiram. Ele pediu que eu partisse para a ação, mas eu ainda estava pensando apenas na definição da estratégia. E respondi: “Wolfgang, entro em contato com você antes do dia 25 de dezembro”. Um telefonema para Paris, uma consulta interna, uma confirmação com o departamento jurídico: no dia seguinte, eu estava ao telefone com a concessionária de Northeim, e marcamos um encontro com os proprietários das oficinas mecânicas “sobreviventes” da Alemanha Oriental na Turíngia, no dia 21 de janeiro de 1990. Destino: Erfurt.
16
III Estádio Olímpico de Berlim
Travamos uma guerra relâmpago sem saber se o desencadeamento da política tornaria possível a expansão comercial esperada. Mas os gastos necessários eram limitados e não recairiam sobre as contas da empresa em caso de insucesso. O objetivo era simples: ter uma rede que cobriria todo o território da Alemanha Oriental antes da efetiva reunificação que, mesmo incerta, tornava-se a cada dia mais provável. Saímos de Brühl em 19 de janeiro. Uma pequena equipe havia preparado o discurso que faríamos para cerca de quarenta proprietários de oficinas mecânicas, selecionados pela Câmara de Comércio e Indústria de Erfurt ou seu equivalente no sistema jurídico da Alemanha Oriental. Normalmente, estas oficinas eram organizadas como cooperativa. Além de ser a única forma jurídica quase privada admitida pelo Regime, era um meio de cobertura aceitável para dar continuidade a uma pequena empresa, existente desde o período anterior à guerra. Tínhamos que convencê-los a representar a Renault (não a Volkswagen a Opel, ou a Ford da Alemanha), sem conhecer absolutamente nada sobre as condições políticas, econômicas, sociais e, sobretudo, monetárias da nossa proposta. Naquele momento, não se tratava nem mesmo de faturar um carro ou peças de reposição. Estávamos vivendo um período de blackout monetário entre as duas Alemanhas. Eu tinha a responsabilidade de explicar a posição da Renault no mundo e na Alemanha Federal e o diretor comercial se encarregaria de falar sobre a gama de produtos comercializáveis. Já o responsável pelo pós-venda explicaria o sistema de distribuição das peças e as regras de estoque mínimo, enquanto que o diretor jurídico falaria dos contratos de concessão. Devidamente munidos de material publicitário, nos colocamos alegremente a caminho de Northeim para jantar com o concessionário Renault que era presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Northeim, tudo isso em meio a um ar de complô e inquietação. Wolfgang Hermann havia recomendado usar quatro modelos Renault 25 na cor preta para dar um aspecto mais oficial à nossa delegação e facilitar a passagem na fronteira. À noite, ele reforçou seu pedido para que insistíssemos sobre nossa estratégia de criação da rede, mantendo as pequenas empresas de reparação de veículos, ou pelo menos aquelas que haviam sobrevivido. Concordei com a ideia e até mesmo defendi, no dia seguinte, aquilo que os alemães chamam de Mittelstand (as pequenas e médias empresas). Na fronteira, uma verdadeira fronteira fechada, hostil, ameaçadora, apresentamos nossos passaportes, o que começou a valer para os alemães havia muito pouco tempo. Mas nós éramos dois franceses e não havíamos solicitado um visto junto à missão diplomática da Alemanha Oriental em Bonn (o que levaria um prazo burocrático incompatível com a nossa urgência). Os agentes da Volkspolizei (a polícia popular alemã) não queriam nos deixar passar, o que poderia arruinar o encontro e nossos planos. Wolfgang Hermann os conhecia e até os tratava informalmente: mostrando os carros pretos, explicou que vínhamos de Paris em viagem oficial para ver como poderia ser organizada uma cooperação com a futura Alemanha Oriental. Passamos pela barreira e eu me perguntava em silêncio como conseguiríamos voltar, pois voltaríamos por outro caminho. Será que a polícia nos deixaria sair de lá?
17
Era a primeira vez que eu circulava pelo lado oriental e foi impressionante – não havia miséria, nem pobreza, mas tudo era cinza e as casas tinham uma qualidade ruim. Algumas sequer haviam sido concluídas, por falta de material, fazendas antigas abandonadas e substituídas por prédios coletivos feitos de concreto armado. Atravessamos Mühlhausen (Turíngia) e tivemos que esperar a passagem de uma manifestação bem organizada contra o regime, com policiais escoltando e uma floresta de bandeiras da Alemanha Oriental, cujos três emblemas haviam sido arrancados: o compasso para os intelectuais, as espigas de trigo para os camponeses e o martelo para os operários. Este gesto tinha um forte significado simbólico: até 1959, a bandeira era a mesma no lado ocidental e no lado soviético. Foram acrescentados brasões e os berlinenses o chamavam de bandeira divisória (Spalterflagge). A sala de reuniões do hotel ficava no subsolo e era bem pouco acolhedora, sombria, os banheiros eram muito antigos e os móveis eram modestos. Aproximadamente 40 pessoas tinham vindo sob a proteção do equivalente da câmara de comércio desta parte da Turíngia, com suas roupas de corte ruim, silenciosos e atentos. Sem rodeios, o que é próprio das negociações e discussões na Alemanha (e que não deve ser considerado uma ofensa), não houve praticamente nenhuma troca de formalidades. Explicamos nosso projeto e a confiança que depositávamos nestes proprietários de oficina (lembrando que, antes da guerra, a Turíngia e a Saxônia foram áreas industriais e de distribuição de automóveis) e a convicção de que poderíamos fazer alguma coisa juntos, ou seja, vender carros Renault. Mas neste período incerto, cheguei à conclusão que podíamos assumir um compromisso através daquilo que nosso advogado havia chamado de contrato provisório. A atmosfera se descontraiu pouco a pouco e acabou ficando bem informal. Após duas horas e meia de conversa, interrompemos para o momento mais delicado: meu objetivo era anotar os endereços deles para que eles fossem visitados e passassem por uma seleção, a que o representante da Câmara de Comércio (e certamente membro do Partido Comunista) visivelmente se opunha. Udo Jordan o convenceu. Aquele momento foi extraordinário. Uma vez terminada a reunião, os participantes começaram a conversar e um deles veio até mim para me agradecer (o que era supérfluo) e vou tentar repetir literalmente o que ele me disse: “Eu só conheci os nazistas e membros da Stasi. Consegui manter a oficina que herdei do meu pai. A presença de vocês aqui hoje finalmente nos traz esperança. Talvez eu não tenha esperado tanto tempo por nada”. Se não me engano, ele até tinha lágrimas nos olhos. Mas não sei se ele se tornou representante da Renault. Espero que sim. Já estava na hora de irmos almoçar juntos. Descobri a gastronomia de outra época: “Como antes da guerra”, disse Udo Jordan, claramente extasiado. Sair da Alemanha Oriental acabou sendo fácil. Chegamos tarde a Brühl, exaustos, sabendo que deveríamos começar nosso trabalho para colocar em funcionamento uma nova rede de concessionárias, que havíamos decidido naquele dia. Em fevereiro de 1990, tendo em vista que a queda do Muro de Berlim havia acontecido em novembro do ano anterior, a primeira decisão foi criar uma diretoria regional em Berlim Oriental. Era um desafio, pois não tínhamos nenhuma base ou justificativa legal para isso. Devíamos alugar um escritório e registrar o estatuto social – tudo era legal e tecnicamente impossível. Seria necessário um aventureiro, desbravador e vendedor, alguém capaz de viver 18
sozinho sem maiores recursos, apenas uma secretária e um funcionário, alguém que tivesse experiência suficiente para dialogar com os proprietários das oficinas que gostaríamos de conquistar, bem além de Erfurt. Este homem era Raymond Jahiel. A escolha havia sido feita de forma simples: em Paris, o meu chefe estava totalmente de acordo comigo para criar esta estrutura na linha de frente, e havia me perguntado quem eu pensava que poderia desempenhar esta função. Eu respondi que tinha um nome em mente. Ele também tinha sua própria ideia. Ambos pensávamos no Jahiel. Ele era fora do comum: sem curso superior, carreira de vendedor, promovido a gerente de vendas em Estrasburgo. Habituado a frequentar reuniões com os distribuidores de veículos, ele havia passado alguns meses na matriz da empresa, antes de se tornar diretor da concessionária própria do Grupo em Munique. Ele era poliglota, excelente em alemão e bom em alemão suíço, um produto raro! Nosso homem tinha a rede de concessionárias nas veias, uma cultura extremamente apreciada na França e na Alemanha, onde esta era constituída de uma diversidade de pequenas empresas, comandadas por mecânicos de profissão. Dei a ele um Renault 25 Turbo e um telefone por satélite. Ele se instalou em dois quartos do Hotel Metropol, não muito distante da Friedrichstrasse. A vantagem era que o metrô para ir a Berlim Ocidental passava bem perto. Por isso, era fácil chegar a Berlim Ocidental – não levando em conta os intermináveis controles da polícia. Combinamos que ele iria a Berlim Ocidental pelo menos uma vez por semana para prestar contas. Naquela época, a história do telefone via satélite deu o que falar, mas não havia outra solução, pois a rede telefônica era restrita, reservada e submetida a escutas. Entre Berlim Oriental e Ocidental, dizia-se que havia apenas 85 linhas. Era a única forma confiável de manter contato. Sua ida semanal ao lado Ocidental permitia fazer um balanço da operação e acompanhar a assinatura dos contratos, o que veio a se tornar uma obsessão. O cenário mudou totalmente no decorrer de três semanas. Com os contratos assinados, foi possível evidenciar que havia uma boa rede de reparadores que tinham sobrevivido ao tsunami coletivista, assumindo a forma mais ou menos autêntica de cooperativas. Apesar de mecanicamente muito bons, suas instalações eram ultrapassadas. Com eles, era possível cobrir o território com grande velocidade, mas o núcleo de três pessoas instaladas em Berlim Oriental não seria suficiente. Sobretudo porque, para tornar este tipo de contrato conveniente para as duas partes em longo prazo, seria necessária muita paciência, empatia e escuta. Resumindo: tempo. Algo que de que não dispúnhamos mais. Em um domingo ao final de janeiro, saindo da missa na paróquia católica de Bonn, no distrito de Bad Godesberg, costumávamos encontrar alguns casais franco-alemães, muitas vezes funcionários de ministérios. Um deles trabalhava no gabinete de Helmut Kohl, e era responsável pela redação de seus discursos. Ele me informou que o governo certamente iria se mexer e anunciar a intenção (economicamente audaciosa e pouco ortodoxa) de oferecer aos alemães orientais a troca de Ostmarks por marcos alemães (da Alemanha Ocidental). Além dos problemas políticos de primeira ordem, a questão monetária era fundamental e a fusão das moedas (a uma cotação milagrosamente vantajosa), permitiria a criação de um único mercado, uma espécie de OPA (Oferta Pública de Compra) do lado ocidental para o oriental. Na verdade, foi ainda mais atrativo, pois o nível da cotação foi determinado de forma que a taxa real ficaria em torno de 1,90. Eu não procurei entender o que esta decisão significaria do ponto de vista macroeconômico (o peso recaído sobre o lado ocidental). Já em termos conjunturais, as famílias da Alemanha Oriental, sedentas por bens de consumo – mesmo os mais banais –, fariam de tudo para adquiri-los a partir do dia em que a medida fosse colocada 19
em prática. Eu tinha a convicção que alguns poderiam adquirir um automóvel, pois, com a união monetária, a poupança seria valorizada, mesmo se a renda continuasse baixa. Por isso, era necessário acelerar a seleção de novos concessionários, com um único objetivo: “Uma bandeira Renault em cada distrito”. Entretanto, até o início de março, o diretor jurídico tinha conseguido apenas em torno de 20 contratos de compromisso provisórios. Assim, formamos novas equipes, selecionadas entre o pessoal da Renault Alemanha, que mudariam temporariamente de área. Seriam necessários pelo menos 200 pontos-de-venda da Renault, e todos deveriam ter de reposição, leitores de microfichas, material de informação sobre os produtos, e equipamento para alinhamento da carroceria. O treinamento viria logo em seguida, mas já conhecíamos a qualidade dos mecânicos, o que nos fazia prever que o serviço pós-venda seria de boa qualidade. Ainda era possível sentir o gosto amargo deixado pela negligência da Renault em relação a fatores essenciais durante sua implantação nos Estados Unidos, na época do Dauphine (conhecido no Brasil como Gordini), cujas consequências conhecemos. Nosso sucesso foi demonstrado pela perenidade das pessoas escolhidas e que, em sua maioria, ainda são concessionários Renault. Havíamos atingido nosso objetivo em meados de maio. Mas ainda não sabíamos se seria possível vender o que quer que seja. Tudo dependeria do sucesso da reunificação, que ainda estava nas mãos do Chanceler Kohl, do Primeiro Ministro Modrow pelo lado oriental, e, sobretudo das quatro potências de ocupação do pós-guerra. Nunca houve um tratado de paz, e o direito internacional estava ainda fundamentado na partilha territorial de 1945. Como eu imaginava, as coisas aconteceram rapidamente. Não vamos contar todas as peripécias, mas apenas alguns incidentes nos quais estive envolvido. Não havia apenas apoiadores da unificação, principalmente na França. O potencial da força das duas Alemanhas unidas era objeto de especulações, sendo a mais banal a dominação esportiva da nova nação que abocanharia todas as medalhas nos Jogos Olímpicos. É verdade que a Alemanha Oriental havia praticado uma política bastante voluntarista que dava resultados impressionantes, o que mais tarde descobrimos ser devido à ajuda de medicamentos. Houve, sobretudo, a célebre frase do escritor François Mauriac, que mexia com a cabeça dos políticos e dos jornalistas: “As pessoas gostam tanto da Alemanha que preferem ter duas”. O governo francês, e talvez até mesmo o presidente, não manifestavam entusiasmo algum. Em dezembro de 1989, alguns dias após a queda do muro de Berlim, quando o declínio do regime se tornava inevitável, a viagem “oficial” do Presidente François Mitterrand à Alemanha Oriental foi recebida com espanto na capital Bonn. Um pouco mais tarde, fui surpreendido por um convite para almoçar com o Secretário Geral da Defesa Nacional, Guy Fougier, que eu havia conhecido muito bem quando trabalhei no gabinete do Ministério do Interior, e com quem voltei a trabalhar depois, quando ele comandou a região administrativa de Paris. Lá fui eu para o famoso edifício Invalides. Viajei especialmente para isso e o almoço foi um pretexto para conversar. O Secretário Geral e os Oficiais Superiores que o acompanhavam sabiam aparentemente o que a Renault estava se esforçando para construir na Alemanha Oriental. Eles queriam conhecer os detalhes da estratégia, às vezes usando termos que eu considerava inadequados para mostrar sua total reprovação ao ressurgimento de uma “Grande Alemanha”. A inquietação deles era sincera, pois é verdade que uma mudança de atitude deste novo gigante rumo a um neutralismo estava tendo repercussões importantes na República Federal (o lado Ocidental).
20
Expliquei, com a menor empolgação possível, que era necessário enxergar adiante e que, apesar dos sofrimentos do passado, estávamos bem distantes do início do século XX. Insisti sobre o fato de que o movimento de desestabilização não vinha de cima, mas de baixo, do povo, e que o futuro da Alemanha Oriental parecia estar decidido, simples assim. Do meu ponto de vista, não se tratava do ressurgimento de um espírito de dominação, mas de um clamor de liberdade que estava ameaçando todo o Pacto de Varsóvia. Acrescentei que a reunificação não era um perigo, mas uma oportunidade se a nova estrutura se inserisse totalmente na União Europeia. Em minha modesta posição, eu gostaria que a Renault conquistasse sua fatia neste novo mercado que, tudo levava a crer, se abriria a ela. O motorista do Secretário Geral me levou ao aeroporto Roissy. No avião da Air France, estava aquele que viria a ser o campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, mas que na época corria com um carro da escuderia Benetton Renault. Ele estava voltando para sua cidade, Kerpen, que ficava perto de Brühl. Assim como ele, estávamos sempre correndo. Em fevereiro, houve uma reunião do conselho de administração do Liceu Francês de Bonn. Tarde da noite, como sempre fazíamos, eu acompanhei Joachim Bitterlich, que morava no bairro de Endenich, próximo de Poppelsdorf, onde eu morava. Geralmente esse trajeto não levava muito tempo, e ele sempre aproveitava para fazer comentários irônicos sobre os carros franceses durante o percurso; eu respondia com os resultados de vendas que estavam aumentando. Raramente íamos além desta conversa cordial, apesar de ele ter sido encarregado das relações franco-alemãs. Naquela noite, chegando à sua casa, um apartamento simples em comparação com seu alto cargo (descobri que a Alemanha Ocidental era parcimoniosa em relação aos recursos públicos, sendo que o próprio Chanceler pagava de seu próprio salário o aluguel de sua mansão às margens do Rio Reno), ele me perguntou se eu poderia estacionar. Em Bonn, isso não era um problema, pois a capital ficava tranquila ao cair da noite. Parei o carro e Joachim – muito sério e à queima roupa – me perguntou o que eu achava da reunificação. “Veja você”, ele se justificou, “o Chanceler está enfrentando um problema delicado. Ao final da guerra, vários territórios alemães mais a leste foram redistribuídos, o território da Rússia foi aumentado na direção oeste e a Polônia foi redefinida com o novo traçado pelos rios Oder e Neisse, integrando a rica Silésia. Vários antigos habitantes destas regiões que puderam e tiveram que se refugiar na parte ocidental formam hoje um poderoso grupo de pressão (como pude constatar durante a manifestação na praça da Prefeitura, em Bonn, onde se reuniram todas as bandeiras e brasões dos territórios perdidos). Do ponto de vista legal, como ainda não há tratado de paz, pode ser que a fronteira Oder-Neisse ainda seja provisória. O que você acha”? “Do ponto de visto da França, e de um francês”, disse ele após uma pausa. Percebi imediatamente que eu estava servindo de cobaia e que ele estava me sondando. Na realidade, fiquei estupefato com aquela pergunta. Com simplicidade, falamos das reticências francesas quanto à reunificação das quatro zonas de ocupação, e disse a ele em seguida que o questionamento sobre a fronteira Oder-Neisse seria um “casus belli” e, ainda por cima, uma grande bobagem. Não um erro, mas uma besteira. Desde o fim da guerra, há duas Alemanhas, a Ocidental e a Oriental (RFA e RDA) e, graças a um movimento de liberação, a impossível reunificação estava ao alcance das mãos. Ir além seria adentrar o campo do irracional. Partimos novamente e o levei até a porta de sua casa. Nunca mais falamos sobre isso. E esta questão não foi mais levantada, com exceção dos jornais e revistas editados por refugiados. Por 21
outro lado, o governo alemão soube ter considerável talento para unir os europeus e ainda por cima a União Soviética em prol da reunificação, tendo como consequência a retirada do Exército Vermelho. Em março, ainda ignorávamos o que aconteceria nas duas Alemanhas, dois Estados justapostos ou uma estrutura única. Acompanhados por Udo Jordan e Raymond Jahiel, o caçador de concessionárias, decidimos ir à Feira de Leipzig, a grandiosa manifestação anual onde a Alemanha Oriental expunha seu know-how e podia negociar com a indústria do Ocidente. O aeroporto cinza e sujo de pó de lignito oferecia uma recepção policiesca. Era preciso passar pelas cabines equipadas com espelhos onde a polícia nacional escrutinava tanto os seus documentos como o seu corpo. Tínhamos um almoço marcado com o secretário de estado para a indústria automobilística, antes de fazer um “tour” e voltar. Deparamo-nos com um homem jovem, talvez 35 anos, que estava no comando do setor automobilístico da Alemanha Oriental, a qual contava com uns cinquenta pontos-de-venda diferentes. A conversa se desenrolou sem sequência lógica e sem objetivo determinado. Ele estava bastante à vontade, e tinha uma inteligência notável, mas estava completamente desiludido. Em meio a uma refeição frugal, fiquei atordoado quando ele disse: “Tudo será privatizado. Venha nos visitar se você tiver projetos de desenvolvimento”. Parece que houve uma missão industrial fugaz em Dresden, em uma das concessionárias de Wartburg, sem continuidade alguma. No final das contas, as montadoras alemãs vão se “deslocalizar” para o Leste, especialmente em Eisenach, onde a Opel comprou a fábrica matriz localizada no distrito de Wartburg. É interessante observar que os antigos prédios de fábricas não foram reaproveitados e que o fabricante germano-americano partiu de um greenfield (partiu do zero), construindo uma fábrica totalmente nova. Já a Volkswagen se instalou em Karl-Marx-Stadt, que já tinha recuperado seu antigo nome de Chemnitz. Passando em seguida pelos corredores entre os estandes, iniciamos tratativas com alguns expositores. Éramos estrangeiros, com quem não era muito recomendável falar ou fazer declarações algumas semanas antes. Nossos interlocutores estavam casualmente dispostos a conversar, não sobre aspectos técnicos, mas de política. O último governo da Alemanha Oriental havia decidido organizar eleições, e falava-se livremente a respeito das sondagens já publicadas. Ninguém acreditava na vitória do SED (Partido Comunista). Apesar de ter colaborado com o regime, o CDU (Partido Democrata Cristão) era considerado vencedor. Até hoje esta viagem me parece irreal. Ocupando a sétima posição mundial, de acordo com a propaganda – o que era motivo de risada entre os consultores comerciais da França em Berlim Oriental –, a indústria da Alemanha Oriental jogava a última lenha na fogueira, mas sem ter fé nisso, assim como o jovem e brilhante Secretário de Estado. Um “Crepúsculo dos Deuses” (uma analogia à quarta parte da tetralogia O Anel de Nibelungo, de Richard Wagner), ou o fim de uma época, que eu não achava que já chegaria ao centro do poder, o Kremlin. O “recrutamento” foi rápido e a logística à moda alemã, eficaz, cada futuro ponto-de-venda foi espartanamente equipado e repintado (com prioridade para a fachada). A identidade visual da marca era sempre evidenciada por uma bandeira ornada com um losango, além de testeiras decorativas. Finalmente estávamos prontos quando a data da reunificação monetária foi oficialmente anunciada: seria em 2 de julho de 1990. A livre circulação de pessoas já era uma realidade desde a queda do muro, e a de bens e serviços havia sido anunciada. Christian Martin, o responsável da Renault pela Região Europa, a quem eu estava subordinado, veio para a Alemanha e, contrariamente ao programa habitual (uma balanço 22
geral da situação econômica e financeira da subsidiária), foi para Berlim, onde o encontrei. Decidimos “passar” diretamente para o lado oriental e reservamos o Metropol, um dos hotéis reservados aos estrangeiros e à Nomenklatura (a forma como se designava a "burocracia", ou "casta dirigente", da União Soviética). Havia outro na Alexander Platz e outro, mais prestigioso e totalmente rococó, o Président, onde eu ficaria muitas vezes hospedado após a reunificação. À noite, em um restaurante monumental e vazio, jantamos rapidamente ao estilo culinário frugal, que era comum do lado oriental. Conversamos sobreo nosso potencial de vendas no futuro mercado da Alemanha Oriental. Christian Martin, que não era formado por uma das maiores faculdades de engenharia por acaso, pegou um pedaço de papel e rabiscou uma previsão, que tinha o mesmo efeito daquela feita por um consultor (sem os honorários): - 16 milhões de habitantes contra 70 do lado ocidental; - Um mercado de 2,2 milhões de carros para o Ocidente; - Sem calcular a proporção e, mas tirando o potencial da diferença de poder de compra dos “novos clientes”, entre 40 e 60% em comparação com o de um cidadão ocidental. - É necessário incluir um efeito estrutural positivo para a Renault. O mercado terá como foco os carros compactos, que são o ponto forte da marca. Além disso, na Alemanha Oriental, nossa imagem não precisa se esforçar para que as deficiências de qualidade acumuladas durante a primeira metade da década de 80 sejam esquecidas. A máquina de calcular começou a funcionar (com papel e lápis) e chegamos ao potencial de 18 mil carros em um ano. Uma boa perspectiva com 6% de participação de mercado, contra pouco menos de 4% do lado ocidental. Valeria muito a pena e o futuro nos mostraria que as previsões que havíamos feito anteriormente eram mais do que pessimistas. Na manhã seguinte, dirigindo às margens do Rio Spree, o rio que divide a cidade de Berlim em duas, tínhamos uma reunião nas instalações ultramodernas (conforme as normas da RDA) do antigo partido comunista. Dominando o rio e voltado para o lado ocidental, na direção Parlamento Alemão, ele havia sido desocupado e estava disponível para alugar. Raymond Jahiel astuciosamente havia deixado sua suíte de hotel e se instalado ali em condições materiais apropriadas. Ele havia reservado a grande sala de reunião no último andar, inteiramente decorada com troféus de caça do Comitê Central. Neste ambiente surrealista, havia chegado o momento de fazer um balanço e um prognóstico da implementação da nova rede de concessionárias, cujo prazo se aproximava – 2 de julho. Já tínhamos mais de uma centena de pré-contratos assinados e mais uma centena estava em fase avançada de negociação. Com exceção de algumas cidades – como Dessau –, seria possível ter uma boa cobertura geográfica. Por experiência, eu sabia que nenhuma rede de concessionárias era perfeita. Eu havia tido essa experiência na França: havia cidades onde, historicamente, a performance comercial da Renault não deslanchava e as mudanças, mesmo as mais cirúrgicas, não produziam efeito. O importante é que isso era que esses casos fossem minoria e que, por outro lado, os casos de performance acima da média fossem maioria. Em relação à infraestrutura, faltavam três coisas para resolver com urgência: o crédito, o financiamento, e os lubrificantes... Depois de ter convencido o Dr. Lutz, diretor geral da Elf Alemanha, incluímos na equipe de prospecção um colaborador da empresa de petróleo, para organizar a assinatura dos contratos de fornecimentos de lubrificantes, os quais são normalmente fornecidos em consignação, de forma a alimentar o capital de giro da 23
concessionária. Este último ponto era indispensável, sobretudo se as vendas explodissem. E elas explodiram. Mais complicado e diferentemente da cultura em uma economia centralizada, pensei que seria necessário oferecer possibilidades de crédito ao consumo logo de cara. Mesmo com a equiparação monetária com o marco alemão resultante da reunificação monetária, nem todos os futuros clientes tinham salários ou poupança suficientes para comprar um carro novo. Instalado em Colônia e terceira instituição de financiamento de veículos de propriedade de uma montadora de automóveis na Alemanha, o Banco Renault era reticente em relação à “conquista do Leste”. A solvabilidade da futura clientela era desconhecida, assim como a solidez dos futuros concessionários, o que não era suficiente para financiar os estoques (exceto se a Renault Alemanha fizesse a caução); e, argumento decisivo, não havia dinheiro em circulação. Tudo obrigava os gerentes a esperar, mas não podíamos dar a eles este luxo. De comum acordo com a matriz (a RCI – Renault Crédito Internacional), havia sido tomada a decisão de acelerar. Em três meses, todos os novos parceiros foram treinados para vender financiamento e toda a estrutura (aceitação dos contratos, pagamento dos vendedores pelo banco, recebimento das parcelas, acompanhamento dos litígios...) estava pronta no “dia D”. Esta estrutura era uma vantagem em comparação com nossos concorrentes, e nossa intuição estava correta, pois, depois da “correria” das primeiras semanas, os clientes tiveram cada vez mais acesso ao crédito em uma proporção – em torno de 80% – comparável com a do oeste. A terceira questão era mais delicada: como não havia dinheiro em circulação e o marco alemão oriental não podia ser convertido, tínhamos que esperar até que o fluxo monetário se estabelecesse no início de julho para definir as condições de pagamento a prazo, usando como base o que havia sido feito do lado ocidental. Mais tarde, constatamos que tudo ocorreu sem maiores problemas. Quando a reunião acabou, sabíamos o que era necessário ser feito, mas, de maneira geral, a equipe de Berlim Oriental fez um excelente trabalho. Mesmo tendo antecipado as dificuldades futuras, nem tudo foi tão simples como parecia, sobretudo em Berlim Oriental. A política adotada era a mesma desde o início. Abordávamos os proprietários de oficinas que haviam sobrevivido aos trancos e barrancos e o negociador da Renault Alemanha negociava com eles. Esta população era rara nas cidades (Leipzig, Rostock, Dresden), mas... desconhecida em Berlim Oriental, que representava em torno de 15% do mercado, talvez mais. Havíamos recebido pedidos de estatais que faziam manutenção de veículos, mas acabamos recusando estes pedidos, diante da imensidão destas oficinas, e a falta de clareza a respeito de seu futuro patrimônio. Entretanto, em Berlim Oriental, eu tinha visto com Raymond Jahiel um conjunto de tamanho quase humano que vendia ou, mais exatamente, distribuía os modelos Lada. Era uma VEB (Volkseigener Betrieb, literalmente uma empresa de propriedade do povo), que se destacava na subida da Karl-Marx-Allee. Esta grande avenida oferece uma perspectiva monumental a partir do Centro, contornando a estátua de Lênin no final, subindo pela grande saída Leste que leva até a cidade de Frankfurt an der Oder, na fronteira com a Polônia (a menos de 80 km). A “oficina” estava instalada em uma área urbana recente, onde moravam principalmente cidadãos de classe média. Nada poderia ser feito enquanto um acordo não fosse firmado a respeito da devolução dos bens do Estado da antiga Alemanha Oriental. Foi necessário aguardar o tratado de reunificação em 31 de agosto de 1990, e a implementação concomitante da Treuhandanstalt, estatal encarregada de privatizar todas as propriedades públicas. Nada menos que 8.000 empresas de todos os segmentos e tamanhos, além de 30.000 empresas comerciais e autônomos; estimava-se que a 24
Treuhand era responsável por aproximadamente 4 milhões de funcionários. A matriz ficava em Berlim, no antigo Ministério da Aeronáutica e do Terceiro Reich, com sua arquitetura característica. Havíamos feito um bom levantamento, pois a venda do conjunto havia atraído várias propostas e provocado uma alta nas ofertas, o que culminou com a escolha de três candidatos. Cada um foi entrevistado, e Udo Jordan negociou em nome da Renault. Tivemos que aumentar nossa oferta em até 32 milhões de marcos (mais de 10 milhões de euros), o que estava bem além das delegações de poderes conferidos pela matriz da Renault à subsidiária alemã. Os procedimentos internos eram codificados e era necessário preparar um grande dossiê de investimento. Tal valor exigia a assinatura do Presidente do Grupo (hoje em dia chamado de CEO). Udo Jordan telefonou de Berlim para me dizer que a Treuhand havia escolhido por pouco a oferta da Renault; mas era necessário assinar imediatamente, pois caso contrário, deixaríamos espaço para a Toyota ou BMW. O tempo da privatização passava mais rápido do que o tempo da administração de um grande grupo. Eu sabia que os membros do Comitê Executivo do Grupo Renault almoçavam juntos e que eu poderia tentar “forçar a barra”. Consegui sem dificuldade falar com Patrick Faure, que era o novo diretor comercial. Ele concordou que não poderíamos perder a oportunidade. Meia hora depois, a Direção Geral deu a aprovação, com a expressa condição de montar um dossiê de regularização conforme as regras, e assim foi feito. Em maio, já sabíamos a data na qual aconteceria a unificação monetária: 2 de julho de 1990. Tínhamos boas chances de estar geograficamente bem distribuídos, e era necessário elaborar rapidamente um plano de lançamento da nova filial de distribuição. Ou seja, lançar a rede de concessionárias, o que, tanto na política como nos negócios, depende de uma convenção onde são definidos os objetivos quantitativos de forma clara. Um destes espetáculos, dos quais a Renault se tornou uma apaixonada defensora nos últimos anos. Quando comecei a trabalhar no Grupo, em 1981, lembro que a marca estava prestes a lançar no mercado o Renault 9, e havia decidido reunir toda a rede mundial – é verdade que, naquela época, tratava-se essencialmente da Europa Ocidental. Mas essa rede representava aproximadamente 25.000 pessoas, que foram reunidas no Hipódromo de Longchamp, sendo que a pista havia sido recoberta por estrados para não ser danificada. Houve outros encontros memoráveis como no Palexpo de Genebra, o estádio de Montjuïc de Barcelona, e o Centro de Convenções Porte de Versailles de Paris, para o lançamento do Scénic, que revolucionaria o mercado. O que fazer para esta “pequena” rede, que existia há apenas algumas semanas? Os especialistas recomendavam simplesmente escolher um centro de convenções e, nesse caso, havia um moderno e funcional em Berlim. Ao final de nossa reunião às margens do Rio Spree, não havíamos tomado decisão alguma. Eu não tinha vontade alguma de me esconder em uma sala recoberta de veludo e desumana – resumindo, fria. Eu sonhava com um evento totalmente inédito e público. No fundo, eu tinha a convicção que não seria uma convenção qualquer. Ela marcaria o nascimento de uma rede de distribuição nova em folha, em um país que saía de 40 anos de economia dirigista, com uma rede de distribuição francesa que criava suas raízes antes de todas as outras, na antiga zona de ocupação soviética da Alemanha. Era preciso ter bastante imaginação. Um dos monumentos que simbolizava a Alemanha dividida era o Palácio do Reichstag. O Parlamento Alemão não tinha mais serventia e esperava um renascimento com a reunificação. Mas sua esplanada servia frequentemente para manifestações políticas e sindicais. Poderíamos facilmente fazer uma convenção naquele local, o que atrairia uma repercussão midiática interessante. Incumbi Paul Stierling, o especialista da 25
matriz para eventos, de verificar no Senado, em Berlim, se tal ideia era possível no caso de uma empresa comercial. Ele voltou pouco tempo depois, desanimado: as autoridades de Berlim consideravam a ideia inaceitável e eles tinham razão para isso. Foi então que acabei me lembrando de um espetáculo que assistíamos todos os anos na televisão. Eram grandes congressos da igreja católica (o Katholikentag), ou da igreja luterana, organizadas em grandes estádios em Colônia ou Munique. Assim, surgiu a ideia de alugar o Estádio Olímpico de Berlim, e Paul Sterling voltou ao Senado (onde John Kennedy havia feito seu famoso discurso Ich bin ein Berliner (Eu sou um Berlinense)). Para nossa grande surpresa, a resposta foi positiva. Dois dias em junho por 300.000 marcos alemães. Nenhum exagero, em minha opinião. Fechamos o negócio e marcamos a data: 9 de junho de 1990.
26
IV Brühl
Cheguei à Alemanha no início de 1986. A matriz da Renault ficava em Brühl, uma cidade de tamanho médio, situada entre Colônia e Bonn, em uma área industrial relativamente imponente. A cidade não tinha nenhum charme especial, tendo sido reconstruída após a guerra, no mais puro estilo retangular que prevaleceu nos anos 1950. Os únicos edifícios interessantes eram os Palácios de Augustusburg e Falkenlust, construídos no século XVIII pelo bispo de Colônia. Nada me destinava a trabalhar na Alemanha. Cinco anos antes, eu havia construído uma carreira veloz como alto funcionário público, como consultor técnico do Gabinete do Ministro do Interior, após um percurso iniciado no Tribunal de Contas, assim que terminei a Escola Nacional de Administração (ENA). Fazia meu trabalho como autoridade pública, mas estava impaciente para sair a campo e me juntar à equipe da administração regional. Em princípio, não havia nada contra, mas obter uma transferência, naquela época, teria sido uma grande novidade. Isso se tornou possível ao final de quatro anos, graças ao Primeiro Presidente do Tribunal, Désiré Arnaud e pelo antigo governante da cidade de Argel, que ocupava o cargo de conselheiro-mestre e abriu as portas para mim. Com 29 anos, parti para a cidade de Troyes, como secretário-geral da região administrativa de Aube, onde fiquei apenas dois anos, passando em seguida a trabalhar no Gabinete do Ministro do Interior Christian Bonnet. Era um dirigente admirável, que conduzia “a grande casa”, com firmeza e discrição. Em maio de 1981, Gaston Defferre substituiu Christian Bonnet e a equipe se dispersou. Tentei me manter ligado à administração territorial, mas devido aos problemas causados pelas mudanças políticas, voltei ao Tribunal de Contas. Foi naquele momento que minhas origens falaram alto. Eu sempre quis ardentemente partir para a ação e, com 35 anos, estava pronto para “atravessar o rubicão” e trabalhar para uma indústria estatal ou privada. Meu pai, antigo concessionário Renault [Alexandre Ménard, 1900, apprenti dans l’automobile. Texto apresentado por Noëlle Ménard, prefácio de Louis Schweitzer, Siloé, 2003], e antigo presidente de sua associação, conseguiu para mim uma entrevista com Philippe Lamirault, que era na época diretor comercial mundial da marca. Eu estive com ele no início de julho de 1981. Falamos principalmente de política e, no final, ele me ofereceu a possibilidade de assumir um cargo de responsabilidade na Diretoria Comercial da região Europa. Falei sobre isso com Christian Bonnet, durante um almoço na Assembleia Nacional. Pedi a aprovação ao Primeiro Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Beck, que não colocou qualquer obstáculo. No início de agosto, coloquei uma carta endereçada à Renault na caixa de correio da Rua Nélaton com a minha resposta positiva. Eu estava rompendo com doze anos de carreira pública e, sem o saber, teria pela frente vinte e oito anos. Eu não tinha muita bagagem. Não sabia nada da área industrial e não tinha referência alguma em termos de administração de empresas. Chegar de paraquedas em um ambiente desconhecido é sempre muito difícil e minhas referências poderiam ser chamar atenção demais. A Renault não era famosa por sua abertura e havia vários casos de pessoas que ingressaram na empresa no meio de suas carreiras e não conseguiram se integrar. Entretanto, eu tinha uma vantagem: eu era de alguma forma da família, filho e neto de concessionário. 27
Meu primeiro chefe, Claude Weets, que tinha um dom comercial excepcional, permitiu que eu iniciasse minha carreira e aprendesse como funciona uma indústria, tão distante da administração pública. O tempo não tem a mesma duração e apenas o resultado conta, ou seja, a margem operacional que é avaliada mensalmente. Eu aprenderia o que isso significa a duras penas. Inicialmente, fui responsável pelo controle de gestão de todas as subsidiárias europeias. Em seguida, pediram que eu fosse para a Colômbia. Em um primeiro momento, aceitei. Depois, por razões familiares, recusei. A empresa aceitou minha resposta negativa, sem problemas. Mudei-me para Lyon e também de atividade, passando a ser Diretor Comercial Regional. Um retorno às origens da família? Talvez tenha sido importante para constatar que, em uma empresa, existem três funções-chave (todas arriscadas, a propósito): o desenvolvimento dos produtos (engenharia), a produção e compras (fábricas e fornecedores), e a parte comercial (vendas, que não é o marketing). A congregação destas atividades garante o sucesso da empresa, e sempre considero que a área comercial é o item mais importante depois da inovação e do design do produto. Minha ausência do Tribunal de Contas era de apenas quatro anos, e eu teria que solicitar uma renovação do pedido antes do final de dezembro de 1985. Para obter outro prazo, através de decreto do Presidente da República, eu teria que obter esclarecimentos sobre minha evolução de carreira na Renault. O Tribunal era liberal, mas observava escrupulosamente a qualidade das funções ocupadas pelos altos funcionários que ela permitia que fossem transferidos ou realocados. Naquele mês de dezembro de 1985, apesar de estar fisicamente mal devido a uma operação para retirar um tumor maligno, tive um encontro na matriz para analisar o ambiente. Eu tinha a convicção de que a continuidade da transferência dependeria das próximas funções que eu assumiria. Tomei o avião no aeroporto de Lyon (Satolas). Passei a noite no Hilton de Orly e, na manhã seguinte, me dirigi à matriz da Renault na região conhecida como Point du Jour para encontrar o Diretor Comercial responsável pela França, Hubert d’Artemare. Acho que as circunstâncias eram favoráveis para mim: na época em que cheguei, os gestores da área comercial tinham que resolver rapidamente os problemas das pessoas e, sem o saber, sem dúvida fazia parte dos assuntos discutidos (chamado informalmente da “dança das cadeiras”). Eu adoraria continuar na França, onde a máquina comercial da Renault era a referência da profissão. Mas Hubert d’Artemare pediu para que eu subisse até o oitavo andar, onde ficava o Comitê Executivo do Grupo, para me encontrar com o diretor responsável pela área comercial em nível mundial, Jean Phelupt, que já estava me aguardando. Extremamente educado, simpático, e bom psicólogo, ele não foi prolixo e perguntou, sem grandes formalidades, se eu estava pronto para assumir a Direção da Renault na Alemanha. Naquela época, essa era certamente a subsidiária de maior prestígio da marca, apesar de estar passando por dificuldades. Fiquei mudo, diante de uma proposta que, apesar de lisonjeadora, me parecia estranha. Eu disse isso a ele, destacando que apesar de falar inglês e espanhol, não tinha nenhum conhecimento da língua de Goethe. Eu sabia que havia alguns germanófonos (espécie rara a proteger) capazes de assumir a função, mas desconfiava que o estado de deterioração da marca do outro lado do Rio Reno poderia ter sido a causa da recusa. Com um sorriso do qual ainda hoje me lembro, ele respondeu: “Ménard...” (era assim que nos dirigíamos na empresa, cada qual pelo seu sobrenome). Continuando gentilmente, mas com um toque malicioso, ele disse: “Luc-Alexandre, você vai aprender em alguns meses”. Eu tinha 24 horas para dar uma resposta. Na saída, percebi que ele havia compreendido que eu já tinha, mais ou menos, tomado uma decisão. Em seguida, telefonei para minha esposa para 28
entrarmos em acordo a respeito da transferência para a Alemanha. Ir para a Alemanha no meio do ano escolar não era tarefa fácil nem para ela e nem para nossos três filhos, ainda pequenos. Já era quase natal e eu deveria estar em Brühl no dia 7 de janeiro. Fiz as usuais visitas a algumas pessoas da empresa, principalmente para Georges Besse, então presidente da empresa. Como costumava fazer, foi breve ao explicar em que consistia minha missão, dizendo: “Temos que voltar a ser o importador número 1 no mercado alemão. Boa sorte.” Sem saber, ele me deu as armas para a reconquista antes de ser assassinado alguns meses mais tarde. Mas isso é outra história. Ao me acompanhar até a saída, ele me disse de forma enigmática: “Vai ser difícil, eles não sabem fazer carros”. O que ele quis dizer com isso? Será que ele estava pensando no controle dos custos ou na robustez dos produtos? Provavelmente, nos dois. Partiu Alemanha, mais especificamente, a cidade de Brühl. Saí logo cedo, em uma manhã fria, pela saída Balard [em Paris], em um protótipo de Renault 21 cedido por meu chefe, Christian Martin, que comandava toda a Europa. Cortando a Bélgica e passando por Aix-la-Chapelle chega-se mais rápido a Colônia, em aproximadamente três horas. Para a maioria dos franceses, apesar de geograficamente próxima, a Alemanha parece distante devido ao estilo de vida, a forma de viver, a forma de trabalhar e, é claro, a língua. Rapidamente dei-me conta que deveria mergulhar neste universo para estar plenamente apto a começar a trabalhar e que, para assumir minha função, era necessário entender o mercado e o comportamento dos clientes. Graças à Renault, fiz cursos de alemão em Lyon, durante três semanas, seis horas por dia, com uma professora particular. Ela foi impiedosa – a única palavra em francês que ela pronunciou foi bonjour, no primeiro dia de curso. Todo o resto foi falado em alemão, e eu ainda tinha que ouvir uma fita cassete no carro. Isso era uma dor de cabeça, mas nada parecido com o que me esperava... Nos meus primeiros dias como diretor em solo alemão, eu arranhava a língua como os recrutas da região da Bretanha no final do século XIX que chegavam ao serviço militar. Sem ajuda e nem tradutor, eu avançava tateando. Na Renault, eu havia dito que minha prioridade absoluta seria dominar a língua e que eu levaria o tempo que fosse necessário para isso. As vendas aconteceriam em seguida. Ao chegar, eu deveria fazer um discurso para os colaboradores – aproximadamente 1.000 pessoas – e, apesar dos ensaios que fiz com minha assistente, o resultado foi muito ruim. Mas, para nadar, é preciso entrar na água. Continuei estudando durante seis meses em Bonn, me obriguei a ler todas as correspondências e absorver toda a linguagem técnica do mundo automobilístico. Eu fazia a lição de casa todas as noites, mesmo no hotel, quando estava viajando. Meu melhor amigo era o dicionário, no qual descobri, aterrorizado, que havia duas vezes mais palavras em alemão do que em francês! Mas isso era apenas uma ilusão, como acabei descobrindo conforme dominava a gramática e o vocabulário. Não desanimei. O alemão, principalmente aquele falado no norte do país, é uma língua belíssima. Em um domingo à noite, voltando de Lyon onde minha família tinha ficado para terminar o ano escolar, para onde eu me dirigia quase todos os fins de semana, cheguei ao Hotel Bristol em Bonn: o porteiro, que era marroquino, abriu a porta com uma saudação de boas-vindas impecável. Quando fui falar com ele, explicou-me como aprendeu alemão, evidentemente sem ter tido nada parecido com a ajuda que eu tive: “Quando não temos escolha, partimos pra 29
cima e pronto!”. Em junho, quatro meses após minha chegada, o comitê de direção da Renault Alemanha, que há sete anos fazia suas reuniões em francês, começou a falar em alemão – e isso sem volta. Para ser honesto, devo confessar que foram precisos dois anos para eu ficar mais ou menos à vontade com os jornalistas, os concessionários e as pessoas que eu encontrava. Já em minha vida pessoal, eu fazia de tudo para evitar ser absorvido pelo meio francófono do mundo diplomático de Bonn. A situação da Renault Alemanha não era brilhante. Desde os o final dos anos 80, a marca estava perdendo participação de mercado continuamente e os bons tempos haviam ficado para trás. A empresa havia ficado nostálgica a respeito do considerável sucesso do Renault 4, que, durante quatro anos, teve condições de atender perfeitamente as expectativas dos clientes, principalmente os mais jovens. Mas a demanda havia evoluído com a expansão econômica da Alemanha e o aumento do nível de vida. A propósito, assim como as outras marcas, a Renault teve problemas gravíssimos relacionados à corrosão da carroceria devido ao uso contínuo durante o inverno, já que a remoção da neve das estradas era feita com sal, uma prática que hoje segue um procedimento mais controlado. Mas contrariamente às outras montadoras, a Renault reagiu de forma exageradamente lenta a este defeito inaceitável e fez os investimentos necessários de forma tardia (banhos de cataforese). O processo era longo e caro, mas desconfio que a Renault levou tanto tempo para implementá-lo porque seus mercadosalvo eram localizados no Sul da Europa (França, Itália, Espanha), em latitudes mais “clementes”. As consequências na Alemanha foram catastróficas e a reputação da marca padeceu por muitos anos. Era normal dizer que os modelos da Renault já enferrujavam no catálogo! O balanço das vendas semanais (fazíamos um balanço diário das vendas, enquanto que hoje isso é feito em tempo real graças à internet) era baixo, não passando de 800 a 1.000 unidades para uma rede de 525 concessionárias, comparado aos 4.000 pedidos diários recebidos na França. Em um ano, chegávamos a 80.000 carros, e a Fiat despontava à frente das montadoras estrangeiras da Comunidade Europeia. Apesar de terem levado muito tempo para atender o gosto e os desejos da clientela alemã, as marcas japonesas (Toyota, Nissan, Mazda e Honda) avançavam perigosamente. Entretanto, naquela época, o produto deles sofria com impostos de importação de 10% para ingressar na Comunidade Econômica Europeia. O volume realizado era muito baixo para uma rede que, no auge dos anos 70, vendia mais de 170.000 carros. E os cancelamentos de contrato ou as ameaças de cancelamento eram cada vez mais frequentes. Resumindo, eu tinha um abacaxi para descascar... Com exceção dos investimentos para proteção anticorrosão que estavam em andamento, há vários anos, a reação da Renault consistia em mudar continuamente os diretores, em uma busca frenética para achar o guru comercial que promoveria um renascimento da marca. Quatro executivos se sucederam de 1979 a 1986. Eu fui o último destes avatares. Acompanhado de um bom intérprete, a primeira entrevista que dei foi suficiente para eu compreender a situação logo após minha chegada. O jornalista iniciou a conversa perguntando, sem nenhuma agressividade: “Por quanto tempo o senhor pretende ficar aqui? Um mês ou um ano?” Para ele, assim como para a maior parte de seus pares, a Renault era uma empresa em declínio na Alemanha, e obviamente os meus dias estavam contados. Na verdade, eu permaneceria lá por sete anos para cumprir com a missão que Georges Besse havia me incumbido.
30
A tradição e os bons costumes nos obrigava a visitar o Embaixador da França. Devido ao seu faturamento, a Renault ocupava a primeira posição entre as empresas francesas na Alemanha. Por isso, fui à Rua Kapellenweg, às margens do Rio Reno, onde ficava a chancelaria francesa, construída após a Segunda Guerra, no mais puro estilo dos edifícios do Plano Marshall. Como ex-funcionário público, eu tinha noção da importância da embaixada, sobretudo na Alemanha, devido às relações próximas e permanentes que uniam os dois países, pois, já naquela época, teria sido a dupla franco-alemã que promoveria o crescimento da Europa. Fui anunciado e recebido rapidamente. O Embaixador era da “velha guarda”, pouco habituado nas questões econômicas e comerciais, mas simpático e atencioso. Não escondi nossa situação. Ele insistiu para que a balança comercial do setor automobilístico entre nossos países se recuperasse. O déficit recorrente da França e sua inflação levavam a sofridas desvalorizações do franco em relação ao marco alemão. Prestei bastante atenção naquilo que ele havia dito; ele me acompanhou cordialmente até o elevador de uso restrito: “Até logo, prezado amigo. Com o modelo 205 [nota dos tradutores: que era fabricado pela Peugeot e não pela Renault] vocês têm um excelente produto para vender na Alemanha”. Motivado por seu encorajamento “ingênuo”, voltei ao escritório sem rancor algum, é claro, mas rangendo os dentes. Veremos... pensei. Na própria Embaixada, percebi que havia poucos carros da Renault comparado aos da Peugeot. Fiz esta constatação no recôndito de meu espírito, com a intenção de mudar as coisas – e mais essa. Mas tudo começou do avesso... Na matriz da empresa, em Paris, tanto a Alemanha como o Norte da Europa eram motivo de preocupação. A imagem da marca era muito boa no Sul da Europa, ocupando o segundo lugar na Itália, além de ser líder no mercado (fechado) da Espanha e Portugal. Nossos produtos tinham normalmente pouco sucesso nos mercados do Norte da Europa. Para isso, havia uma explicação estrutural: no pós-guerra, a Renault havia feito sua reestruturação com foco nos carros pequenos, com uma longa linhagem de sucesso, com o 4 CV, o Dauphine (Gordini), e o Ondine, o Renault 4 e, mais recentemente, o Renault 5, uma verdadeira inovação de sucesso, que conquistou 14% do mercado francês. Com exceção do belíssimo Renault 25, as incursões no segmento topo de gama (com o Frégate e, mais tarde, o Renault 30), tinham deixado lembranças amargas. Na Alemanha, o reconhecimento da marca no segmento de carros pequenos era incontestável. Essa era uma infeliz consolação. O mercado do outro lado do Rio Reno não abria muito espaço para esta categoria (12% a 14% contra mais de 40% na França). Entretanto, a categoria de carros médios, conhecida na França como “C”, e a categoria “média superior”, conhecida como “D”, dominavam o mercado. Com isso, eu estava chegando para dar novos ares à marca no melhor momento, com o lançamento do novo Renault 21, previsto para o mês de março. Esta foi minha primeira missão, mas este modelo jamais decolou, apesar de todos os nossos esforços. Dei-me conta das dificuldades que estavam por vir, acompanhando os jornalistas da imprensa especializada no lançamento internacional que estava acontecendo na Grécia, no Peloponeso. O tempo estava horrível e as estradas gregas eram revestidas com mica e, portanto, ficaram escorregadias, prejudicando a aderência ao solo. O carro não tinha nada de extraordinário, tendo sido projetado de forma econômica, o que no acabamento interno era perceptível. O estilo era leve, transparente, sem nenhum charme especial, bem longe da robustez aparente dos concorrentes alemães, e até mesmo japoneses. Acrescenta-se a isso que havia dois tipos de motor, um transversal e um longitudinal, o que dava origem a inúmeros questionamentos, 31
frequentemente irônicos. A recepção ao modelo se assemelhou às condições climáticas: glacial. Vamos abrir um parêntesis sobre a imprensa automobilística alemã. Ela é importante e excelente do ponto de vista técnico. Seu papel como formadora de opinião é evidente e, em vista disso, tem um grande poder de difamação. Há seis anos, as relações com a Renault haviam se tornado menos tensas. Adorada de 1965 a 1975, agora a montadora estava sendo desprezada pela sua suposta falta de imaginação (com exceção do Espace, que havia sido lançado em 1984), após a inventividade do Renault 4 e do Renault 16 e até mesmo do Renault 5. Apesar do meu alemão balbuciante, continuei com os jornalistas durante toda a viagem, e cada almoço ou jantar se tornou uma provação (tanto linguística como automobilística). Em sete anos, jamais transgredi esta regra, e dei prioridade absoluta aos lançamentos para a imprensa. Com o tempo, e também porque a Renault havia mudado, nossas relações se tornaram boas e até mesmo excelentes. Isso também foi uma reconquista. É preciso dizer que as conversas sempre eram interessantes. Eles faziam questionamentos, mas nós também recebíamos informações por parte deles, quando era oportuno. A imprensa automobilística alemã fazia o seu papel, não se recusando a fazer elogios a produtos estrangeiros. Mas, por enquanto, havia maus presságios em torno do Renault 21, cujas vendas eram medíocres, ao passo que eram excelentes no Sul da Europa. Em menos de seis meses, nossa política comercial foi questionada pela área de marketing da matriz. As reuniões e os relatórios se sucediam, e eu decidi colocar tudo às claras. Fiz uma abordagem direta, transparente, e crítica. Eu me tornei porta-voz dos concessionários alemães, que eu havia encontrado durante o lançamento e comuniquei sua enorme decepção. Apesar do meu entusiasmo, essa era a realidade. O modelo jamais decolou e os publicitários (extraordinários) da Publicis Alemanha ficavam sem inspiração, tendo, entretanto, feito um trabalho excelente com o Twingo, Renault 19, Clio e Espace. Eu vivi este drama como um fracasso pessoal, mas com isso aprendi que era necessário recomeçar do zero para apresentar uma estratégia à Direção Geral. Entretanto, eu precisava de tempo – um ano e meio neste caso, o que era um prazo muito longo no mundo dos negócios. Recebi o apoio necessário durante esta “travessia do deserto”, que, em dezembro de 1988, culminou com os mais baixos resultados comerciais da Renault Alemanha em 25 anos. Eu me concentrei nos três pontos fortes da empresa: nossa rede de concessionárias, nosso banco, e a agência de publicidade. Era necessário manter a cabeça fora da água a todo o preço, vendendo pelo menos 80.000 carros compactos, o Super 5, o Rapid (equivalente ao furgão Express e Kangoo) e o Espace. A rede de concessionárias tinha tamanho extragrande, ou seja, havia potencial de sobra. Ela se tornou reivindicativa e até mesmo rabugenta, ameaçando com processos na justiça contra a montadora. A cada ano, quando definíamos o orçamento anual, era necessário renegociar as condições contratuais com as concessionárias. Tudo era motivo de conflito: os volumes, as margens, as condições para as vendas aos frotistas, o sistema de armazenagem, os preços, os meios de alavancagem comercial, etc. Eu sabia que eles eram hábeis, utilizando todos os meios, da gentileza à grosseria. Era preciso pelo menos um dia inteiro para chegar a um acordo. Consegui passar por isso durante sete anos, mas não sem sacrifício. Confesso que eu os compreendia, pois eles tinham, como nós, perdido o encantamento inicial. Alguns deles tinham feito investimentos desproporcionais em relação ao volume de vendas e
32
eu sabia que, durante dezoito meses, eu não teria condições de apresentar a eles nenhuma estratégia para sair desta crise. Em meados de 1986, reservei uma mesa no restaurante do hotel Hessicher Hof, em Frankfurt, e convidei o presidente da Associação dos Concessionários para almoçar comigo tête-à-tête, mas com a minha assistente como tradutora. De Bonn a Frankfurt, a rodovia com três pistas passa entre as regiões de Eifel e Taunus, e pela manhã vemos o desfile de sedãs de luxo a mais de 200 km/h. Ao volante do meu Renault 25 (que maravilha de carro!), eu não conseguia contar quantos passavam por mim, pois, naquela época, as rodovias alemãs não tinham engarrafamentos e o tráfego intenso dos dias atuais. Eu estava à frente do presidente do meu “Parlamento” de concessionários (Händlerverband), e havia decidido fazer a pergunta de um milhão de dólares. Eu não escondi a situação difícil na qual me encontrava, reconheci os problemas pelos quais eles estavam passando, e confessei a indefinição das minhas perspectivas para os meses seguintes. Mas afirmei que pretendia resolver esta situação. De forma concreta, disse que tínhamos duas soluções: ou continuaríamos a guerra que perdurava há dez anos, ou começaríamos a confiar uns nos outros, para progredirmos juntos. Eu estava pronto, e fiz questão que eles compreendessem as duas alternativas. Naquele dia, assinamos uma trégua, sem, entretanto, anular nossas divergências. Haveria outras – e houve – mas assumimos um contrato de confiança que se manteve durante os meus sete anos de presença na Renault Alemanha. Este pacto era tão indispensável que a rede de concessionária herdada dos anos 50 era um dos únicos pontos fortes da Renault, os 540 concessionários distribuídos no território de um país demograficamente tão denso, e eles contribuíam à fidelização de uma clientela que tinha tendência a se evaporar. Esta distribuição geográfica era um grande trunfo em relação às montadoras recém-chegadas, principalmente japonesas, constituindo um freio à sua implantação. Entretanto, a direção geral havia pedido categoricamente que eu reduzisse o tamanho da rede e eliminasse uma centena de concessionárias para reestabelecer a equação volume / distribuidores. Matematicamente indiscutível, este raciocínio da matriz foi mortal, pois admitia que a Renault não teria mais um papel dominante no mercado alemão. Recusei a me curvar a esta ideia e – pelo contrário – decidi aumentar o volume para alimentar a rede. Com o quê? Naquele momento, eu não sabia. Este acordo frágil entre a Renault Alemanha e sua rede era ao mesmo tempo necessário e urgente, já que havia um grande número de deserções. Descontentes com a marca e preocupados com o futuro da empresa, alguns concessionários, mesmo os mais antigos, estavam rescindindo o contrato e eu temia que o exemplo de alguns virasse uma bola de neve. Eu havia pedido aos diretores da região para estancar o sangue ao máximo. Felizmente, não era tão fácil para uma concessionária mudar de marca, mas eu sabia que, por mais limitados que fossem os meios, poderíamos dar um novo impulso e continuar adiante. Eu me dediquei a este trabalho delicado a cada vez que o diretor comercial solicitava minha intervenção. Em meados de 1988, a situação ficou feia em Waldshut, em Baden-Württemberg, onde as relações com o concessionário se deteriorou a tal ponto que ele queria abandonar a marca. Fui convocado como último recurso, tendo ido até Stuttgart de avião para então seguir o Rio Reno até Weil am Rhein, onde havia outro concessionário que havia abandonado nossa bandeira para se tornar representante da Nissan. Toda a região que compreende a fantástica floresta negra era – se assim podemos dizer – pró-Renault, com participações de mercado que
33
podiam facilmente ultrapassar os 10%. Era nossa base regional, correspondendo geograficamente à antiga zona de ocupação francesa. Era necessário evitar a debandada. Subindo posteriormente ao longo da fronteira da Suíça, chegamos a Waldshut, à empresa Bartholomä GmbH, cujas instalações impecáveis ficavam em um cruzamento de três ruas: Daimler Strasse, Bosch Strasse, Von Opel Strasse [Nota dos tradutores: em homenagem aos principais fabricantes do segmento automotivo]. Que belo entorno era o nosso... Após a visita de costume, sem esquecer o armazém de peças de reposição, começamos nossa conversa com os proprietários vestidos com seus jalecos brancos de Meister (diploma de mecânico obrigatório para dirigir uma oficina). Eu havia previsto entre 30 e 45 minutos de conversa. Ficamos três horas, e saímos em direção a Stuttgart já ao anoitecer, às 9 da noite. Durante todo esse tempo, o titular da concessionária me explicou o que havia acontecido para que ele chegasse a esse ponto, argumentando com uma caderneta na qual havia anotado meticulosamente tudo o que o havia tirado do sério. Compreendi rapidamente que era necessário deixá-lo desabafar e até mesmo encorajá-lo em seu relato. Era para ele como uma redenção e uma libertação. É claro que eu pedi para ele continuar conosco e me comprometi com as melhorias que a Renault estava em vias de implementar. Ele se aproximou de mim, abriu uma gaveta e me mostrou um projeto de contrato para se tornar concessionário da Toyota. Ficamos estarrecidos, aguardando apenas o veredito! Ele não havia assinado com nosso concorrente. E o futuro confirmaria sua decisão. Até hoje, ele e seus filhos continuam sendo concessionários Renault – e Nissan. Situações semelhantes eram enfrentadas semanalmente. E era exatamente o contrário das conquistas com os quais eu havia sonhado e que eu havia praticado na França durante 18 meses. Mais uma observação: os 550 concessionários eram empresas (na forma de S.a.r.l, ou seja, sociedade anônima de responsabilidade limitada) que deveriam ter um mínimo de rentabilidade. Com um volume baixo equivalente a 80.000 carros por ano, os resultados da empresa estavam próximos do ponto-morto e eu pedi que meu diretor financeiro e meu diretor comercial dessem sustentação à rentabilidade da Rede para que as concessionárias não entrassem no vermelho. Isso não era fácil, pois estaríamos desta forma fragilizando as contas da Renault Alemanha, além dos resultados consolidados de nossa subsidiária. Isso deveria ser apenas provisório! Vinte anos depois, mantenho até hoje uma grande admiração pelos concessionários alemães. Naquela época, eles haviam aceitado esperar, e não abandonar a marca. Felizmente, o futuro confirmou a decisão que eles haviam tomado. O segundo ponto forte do ponto de vista deles era o Banco Renault. Nas novíssimas instalações localizadas em Colônia, que provocava inveja em Paris, era propriamente o que se poderia chamar de uma “máquina de guerra”, fonte de lucro e de vendas. Seus dois gerentes, Preuss e Winkels, estavam entre os melhores da área. O primeiro buscava recursos no mercado financeiro, enquanto que o segundo vendia crédito à pessoa física e demonstrava uma imaginação comercial ilimitada. Criamos um círculo virtuoso: a subsidiária comercial se reunia com o Banco Renault semanalmente. A oferta de crédito era bonificada e frequentemente dividida em três (montadora / banco / rede) em relação ao custo da taxa de juros completa; a corretagem concedida à Rede aumentava na medida em que crescia o número de contratos assinados pelos pontos-de-venda. Os produtos oferecidos estavam em permanente evolução: crédito clássico, taxa de juros reduzida, taxa zero, locação de baixo 34
custo, com recompra ao final do contrato. Os negócios eram bastante atraentes e a Rede era bastante apegada ao Banco. Aproximadamente 80% das vendas eram feitas a crédito, com excelente monitoramento do risco de inadimplência, graças à existência de um cadastro central mantido pelo Banco Federal Alemão, que permitia acompanhar os compromissos financeiros dos clientes. Em geral, um pedido de crédito não demorava mais de uma hora para ser aceito ou recusado. Todos os meses, eu presidia a reunião do Conselho de Administração do Banco, que pressionava pelo aumento das vendas. Durante este período difícil, ele serviu de carro-chefe comercial. Na aventura da Alemanha Oriental, o banco estava ao nosso lado. Mas eles foram prudentes, pois, mesmo sendo dinâmicos, eles continuam sendo um banco. O terceiro pilar era a agência de publicidade Publicis Alemanha, que estava presente tanto em Düsseldorf como em Frankfurt. Para a publicidade, o que conta é a imaginação e a criatividade. Eu observava este parceiro com distância. Para um antigo funcionário público, as estratégias publicitárias podem parecer fúteis e até mesmo supérfluas. Mas os tempos mudaram e hoje vemos a explosão das despesas de comunicação das empresas públicas. Os executivos de criação tinham consciência do momento difícil pelo qual a Renault estava passando. O melhor deles, Reinhard Abels, tinha exatos 30 anos. Inspirado em comerciais audaciosos da Publicis na França, ele concebeu um estilo totalmente diferente nos materiais alemães, que apresentavam os produtos associados a uma descrição elogiosa, com a marca em destaque, assim como o preço. “Isso é fotografia e não uma propaganda”, comentou. “A publicidade sempre deve provocar sonhos em torno do produto e transportar o cliente a outro universo”. Para mim, este ponto de vista era fundamental, pois eu tinha que enfrentar a concorrência, em um nível que a agência desconhecia – neste caso, tínhamos que recorrer à emoção, ao lado afetivo, ao sentimento, longe da tecnicidade, que era o vetor publicitário dominante. O melhor exemplo foi a campanha publicitária do modelo Super 5. Na França (onde os carros são substantivo feminino), este veículo descia do céu e se tornava par romântico do E.T., o Extraterrestre, personagem de Steven Spielberg. Como na Alemanha [e no Brasil] a palavra carro é um substantivo masculino, na propaganda o Super 5 se tornou o “amiguinho” do famoso extraterrestre. Aquele que faz companhia em todos os momentos: para trabalhar, para o encontro com os amigos, para as compras, nas férias. Um verdadeiro golpe de mestre! Esta equipe publicitária era do mais alto nível, e isso seria comprovado mais tarde com os lançamentos do Renault 19, do Clio e do Twingo. Eu me aproximei mais deles e raramente faltava a um briefing para uma nova campanha publicitária. Uma boa publicidade é essencial para vender, e valoriza a imagem da marca. Eles me convenceram rápido disso. Esse era o nosso campo de batalha. Era urgente definir uma estratégia de sucesso.
35
V Rueil-Malmaison
Ruel-Malmaison é um dos lugares mais importantes da história da Renault. Em 1986, toda a engenharia de projetos ficava nesta cidade, mas hoje, desde a criação do Technocentre, em Guyancourt, só ficou a engenharia mecânica. Ali próximo, está localizado o Monte Valérien. O pessoal da área comercial não frequentava esta área reservada aos engenheiros (muitos deles provenientes das maiores faculdades de engenharia, como Arts et Métiers / Paris Tech – cujos alunos eram apelidados de Gadz’Arts – apesar de os alunos da Politécnica de Paris serem cada vez mais numerosos). Naquele local eram desenvolvidos os novos produtos, motores e caixas de câmbio, além dos novos métodos de produção. Durante 3 anos, de 1987 a 1990, eu costumava frequentar aquele lugar, chegando às vezes bem cedo, em torno de 7h, para reuniões que eu preferia fazer com discrição. O meu diálogo com este “novo” mundo se tornaram inesquecíveis para mim e Rueil-Malmaison contribuiu de forma decisiva para a renovação da Renault na Alemanha. Junto com meu jovem, dinâmico e ansioso diretor de marketing, Marc Teyssier (formado pela Faculdade Central de Lyon), tínhamos discussões intermináveis sobre como sair daquela situação difícil. Em 1987, a Direção Geral da empresa pediu que estudássemos três cenários: expandir, recuar para um volume de 50.000 carros, sair do mercado. A exasperação e o sentimento de impotência, e até mesmo de resignação, eram nitidamente perceptíveis, enquanto as vendas explodiam na França, Itália, Espanha, Bélgica, e até na Grã-Bretanha. Como me foi dito certa vez por um engenheiro de produto: “Vendemos muito bem na França. Cabe aos alemães aceitarem nossos carros exatamente como são”. O que dizer de um sistema autista? Uma história talvez resuma melhor o que eu queira dizer. Eu havia pedido que todos os produtos destinados à Alemanha fossem equipados com retrovisores externos tanto do lado esquerdo como direito, assim como era na maioria dos modelos alemães. Era um item de segurança bastante importante na decisão de compra. A resposta foi negativa. Em uma noite, ao voltar de Colônia com o principal responsável pelos recursos humanos da área comercial do grupo, comentei que todos os carros alemães tinham dois retrovisores, e comentei com ele sobre meu desespero. Eu sabia que ele transmitiria a minha mensagem, e foi isso o que ele fez. Até hoje ele se lembra deste fato. Com Marc Teyssier e alguns outros, nos encontrávamos para almoçar e principalmente para jantar, em um pequeno restaurante italiano (cujo proprietário acabou comprando um carro da Renault) no centro de Brühl. Queríamos encontrar uma solução milagrosa e nos recusávamos a jogar a toalha. Ficamos bastante impressionados e inspirados pela Peugeot que, entretanto, jamais brilhou na Alemanha. Entre 1986-1987, a empresa, cuja sede fica na cidade francesa de Sochaux, tinha uma presença impecável na Alemanha com o modelo 205 e seus derivados. Um produto – apenas um – mas que saía do lugar comum e era simplesmente vitorioso em sua categoria em um mercado que tinha a fama de ser difícil e extremamente limitado. Culturalmente, o modelo compacto tinha pouca atratividade junto aos clientes. Mas a estratégia de sucesso construída em torno de um carro-chefe da marca havia sido notável, com a vantagem de evitar a dispersão de recursos com outros carros de baixo volume. Será que poderíamos nos inspirar neste caso de sucesso e, em caso afirmativo, com quais modelos? 36
Ao final de 1986, fui convidado, junto com todos meus colegas europeus, para ir ao departamento de design que se localizava em Rueil-Malmaison. Neste local com arquitetura desagradável (e que não existe mais), era revelada aos profissionais da área comercial a maquete em tamanho real dos novos produtos. Passei pela segurança e estava bastante ansioso, pois o modelo que nos seria apresentado, o Renault 19, se posicionaria no principal segmento de mercado na Alemanha. Com ele, poderíamos apostar todas as fichas para relançar nossa marca de forma ousada. Era uma espécie de tudo ou nada. Sabemos que o ciclo de vida de um carro dura aproximadamente sete anos (um pouco menos hoje em dia, sem justificativas razoáveis além de impulsionar as vendas), portanto eu sabia que não veria outros modelos no segmento B durante minha presença na Alemanha. Além disso, a maquete tinha que ter um design atraente, pois não poderíamos partir desarmados para enfrentar o Golf da Volkswagen, o Kadett da Opel (GM), ou o Escort da Ford, ainda mais em seu próprio território. Entramos na sala. Não há grandes discursos neste tipo de reunião e os responsáveis pelo produto o revelaram sem grandes cerimônias. Eu não esperava por isso: um carro musculoso, que inspirava robustez, com poucas superfícies envidraçadas para um carro da Renault, cuja traseira tinha linhas harmoniosas. Tive dificuldades para esconder minhas reações e disse ao meu chefe, Christian Martin: “Se o produto final for condizente (o gesso da maquete costumava nos enganar) e a qualidade estiver à altura, poderemos ter algum sucesso na Alemanha”. Ele estava de mau humor e não me respondeu nada. À noite, no Castelo de Esclimont, próximo à cidade de Chartres, onde iríamos jantar com o diretor comercial mundial, a discussão pairava sobre o futuro produto. Os publicitários e meus colegas das outras subsidiárias europeias se mostravam exigentes e sem confiança no protótipo. Eu era o único a manifestar entusiasmo. Eu adentrava o cenáculo dos executivos europeus da área comercial com meu currículo de ex-aluno da ENA (Nota dos Tradutores: a Escola Nacional de Administração, associada à administração pública na França). Posteriormente, soube que a escolha do design feita por Georges Besse (na época era o Presidente quem dava a palavra final em relação ao design) não tinha sido a mesma do pessoal de design e produto, e nem do meu chefe, na época diretor de produto. Outra maquete, de autoria de Giugiaro (famoso designer italiano de automóveis), tinha a preferência deles. Ela era mais Renault, mais latina e mais luminosa. Falar com eles era sempre uma oportunidade de aprender mais. Mas a partida já estava definida e, sem sabê-lo, Georges Besse salvaria a Renault na Alemanha graças a esta decisão. Na manhã seguinte, peguei meu Renault 25 com placas da Alemanha e voltei para Brühl. Reuni o Conselho de Administração para dizer que tínhamos encontrado uma pedra preciosa, mas seria necessário mobilizar toda a empresa para impor nossas exigências para atender as expectativas do mercado alemão. Tínhamos dois anos pela frente, já que o lançamento estava previsto para o final do segundo trimestre de 1987. Trilhamos uma trajetória cheia de obstáculos e, quanto mais especificávamos nossas necessidades, mais sentíamos que nossa intervenção não era necessariamente do agrado da matriz, onde ficavam os “pensadores”. Em relação a este ponto, lembro-me de uma história ao mesmo tempo interessante e triste. À época do lançamento do Renault 21, visitei a concessionária de Hannover que, a propósito, era um excelente parceiro. Ele me perguntou por que a cor vermelha não estava disponível. Demonstrei minha surpresa e não tendo resposta alguma para dar, prometi que entraria em contato no dia seguinte para dar uma explicação. Ele tinha razão: a diretoria de marketing na França havia decidido que o vermelho 37
seria reservado às versões do tipo esportivas, de baixo volume. Para a Alemanha, esta decisão era incoerente, pois esta cor não apenas era bastante solicitada como recomendada pelas seguradoras, pois era mais visível à noite. Fracassamos nas tentativas de mudar as regras. Neste caso, eu disse ainda mais alto: autismo – ou influência inconsciente da cidade italiana de Maranello. Enquanto isso, havíamos tomado duas iniciativas originais neste difícil caminho que percorremos na fase de lançamento do Renault 19 na Alemanha. Tínhamos tanta dificuldade de expressar o que a clientela alemã desejava que não havia palavras suficientes para isso. Meu diretor de marketing disse que era necessário entrevistar e filmar os clientes, para que eles pudessem falar sobre os produtos da Renault. O orçamento foi alto – quase 300 mil marcos alemães, se não me engano – o que me fez titubear um bom tempo. A ideia era filmar o comportamento deles frente a um veículo exposto, simples assim. O resultado foi motivador. Mesmo sabendo que estavam sendo filmados, os clientes olhavam, se abaixavam, levantavam, abriam e fechavam o capô, com as orelhas atentas aos ruídos, tocavam a carroceria, verificavam as asperezas, olhavam por baixo do veículo, apalpavam o acabamento do portamalas e do capô, verificavam a aplicação e o acabamento das vedações. Sem exceção, todos os convidados a participar do vídeo adotavam esta atitude. Isso me fazia lembrar os clientes do Renault 21, que levavam seu carro novo à oficina porque a camada de pintura no capô era insuficiente: eu havia contado isso aos engenheiros de fabricação, que não conseguiam acreditar no que eu estava dizendo. A fita de videocassete chegou a Boulogne-Billancourt, na Diretoria Comercial, mais especificamente na Diretoria da Qualidade, cujo novo diretor acabava de ser nomeado. Ele a apresentou ao Comitê Executivo do Grupo. Foi o maior zunzunzum. O novo Presidente, Raymond Levy, já estava preparado para isso. Ele iria revolucionar a qualidade da Renault e o modelo Renault 19 seria seu primeiro alvo. O carro deveria ser bom e confiável da primeira vez e ponto final. Esta demonstração visual serviria de “evidência”. Minha equipe estava motivada para que fôssemos bem-sucedidos no lançamento. Como a empresa estava à beira do limite, utilizamos todos os recursos possíveis e abusamos da chantagem como estratégia, apresentando um cenário catastrófico com a ameaça de nos retirarmos do mercado. Secretamente, recebemos a visita de um dia inteiro do diretor adjunto da engenharia de produto. Ele era responsável pela síntese do veículo, e pensamos que a escolha da Renault – que remontava à crise do petróleo de 1973 – era prejudicial à nossa performance comercial no mercado. A marca havia optado pela “leveza”, cuja escolha se traduzia pela diminuição não desprezível da espessura das chapas de aço. Assim, os veículos tinham uma aparência frágil, sobretudo comparando-os com os modelos alemães. Enquanto isso, o preço do barril do petróleo havia caído para 10 dólares e o consumo não era mais uma prioridade (mas voltou a sê-lo com a preocupação em relação às emissões de CO2 e suas consequências sobre o aquecimento global). A viagem não passou despercebida, pois Pierre Beuzit emitiu um parecer que colocou a engenharia de produto em ebulição. Estávamos bem conectados com a fonte dos acontecimentos, em Rueil-Malmaison. Houve desaprovações acaloradas em relação à nossa estratégia, pois estávamos indo além do nosso papel. De qualquer forma, queríamos uma carroceria bem sólida para o futuro produto. Um carro como desejavam nossos clientes. Entrei em contato com o diretor de projetos, Jean-Pierre Virolet, o primeiro a ocupar esta função instituída formalmente por Raymond Levy com poderes sobre todos os setores. Ele era 38
intratável, teimoso, duro na queda, mas inteligente. Teria ele falado com o chefão? Ele disse que, de qualquer forma, tinha a missão de se curvar às exigências do mercado alemão. Quando eu vi as primeiras carrocerias montadas sem pintura na fábrica de Douai, não tive mais preocupações a respeito da robustez aparente e real do carro; a montagem, sempre difícil, tinha sido bem feita. Lembro-me de ter ido até a linha de montagem em companhia do diretor comercial mundial, Paul Percie du Sert, e mostrado a ele a qualidade das soldas do porta-malas. Elas estavam lisas e sem rebarbas, e os cordões de solda estavam bem feitos, algo que os clientes alemães tinham o hábito de observar e tocar com as próprias mãos. Também havíamos insistido na rigidez do cockpit, o que foi assegurado por meio de um aparafusamento na carroceria em vez de encaixe, que era menos oneroso. No catálogo do produto, fizemos uma lista dos equipamentos indispensáveis: um botão de pisca-alerta no centro do painel, acessível tanto ao condutor como ao passageiro em caso de emergência; uma fixação dos cintos de segurança no banco e não no assoalho do carro, para melhor segurança em caso de colisão; encostos mais altos (os alemães costumam ter maior estatura) com apoios de cabeça reguláveis em altura (mesmo motivo); um filtro antipólen (o que provocou risos em todos), e assim por diante. À exceção de alguns detalhes, o produto finalmente ficou de acordo com o que desejávamos. Um último item técnico tornou-se um obstáculo até o último instante. A versão mais potente do carro entregava 95 cavalos, um bom nível para 1987, mas pouco para os dias de hoje. Queríamos vender esta motorização em grande volume, para impulsionar a imagem do produto. Infelizmente, segundo o critério de cálculo das seguradoras alemãs, havia um patamar de potência acima de 90 cavalos, o que representava um aumento em termos de custos para o cliente da ordem de 250 marcos alemães. Firmes em nossa atitude intransigente, pedimos que o motor tivesse sua potência reduzida, sem muitas ilusões e conscientes do fato que aumentaríamos a diversidade de opções, um verdadeiro pesadelo para o pessoal da manufatura. Entretanto, para nosso grande alívio, o departamento de motores concordou conosco. O Conselho de Administração se reuniu em Douai, no segundo semestre de 1987, mediante convite do diretor da fábrica responsável pela produção do Renault 19. Fomos convidados para ver e testar os novos protótipos com um percurso noturno nos arredores da fábrica. Tratavase de um roteiro incomum e uma prova de confiança da área de produção para o departamento comercial da Renault Alemanha, que nos tranquilizou. Estávamos no caminho certo. Mas para colocar uma pedra de uma vez por todas sobre este assunto, ainda havia dois requisitos técnicos, que conseguimos resolver no início de 1987.
39
VI Munique e Hamburgo
Munique tem quase 2 milhões de habitantes. A cidade é capital da Baviera, uma região que se tornou emblemática no desenvolvimento das novas indústrias. Naquela época, a região era o local onde se desenvolviam as novas tecnologias e nossas vendas até que iam bem por lá. Mesmo sem saber falar o dialeto bávaro, era sempre um prazer ir até lá. A rede era acolhedora, e era necessário ter um estômago ‘de ferro’, com as visitas começando sempre na adega instalada no subsolo da concessionária, onde nos aguardava um café da manhã reforçado: chucrute, linguiça branca e cerveja ou schnaps. Nada de café ou chá, que eu me lembre. E nada de falar sobre negócios antes deste ritual. Tínhamos boas razões para frequentar a cidade, pois era a matriz de dois parceiros indispensáveis, a Allianz e a ADAC. A Allianz havia criado um laboratório de testes, e fazia crash tests de veículos a partir dos quais era determinado o nível de fragilidade no momento de uma colisão. Seu célebre e irascível comandante, o Dr. Danner, gostava de – e castigava – a Renault. Ele tinha boas relações com o diretor da engenharia de projetos da Renault, Philippe Ventre. Este havia morado bastante tempo nos Estados Unidos, onde as questões de segurança passiva estavam bem adiantadas. A ADAC é o Automóvel Clube de referência na Alemanha, com mais de 17,4 milhões de associados, publicando mensalmente uma revista cuja tiragem era correspondente ao número de sócios. Indispensável, a revista era encontrada em todas as salas de espera, tanto em consultórios médicos como veterinários, dentistas, cartórios, advogados... Resumindo – em qualquer lugar onde fosse necessário esperar. Nossos contatos com a editoria, que era um canal de escoamento das notícias da marca, havia se afrouxado. Tínhamos uma necessidade urgente de reconhecimento por parte deles. Mas ainda tínhamos muito trabalho pela frente. Hamburgo tinha uma posição oposta a Munique, não só geográfica como comercialmente para nós. A situação era desesperadora, pois nunca conseguimos vender no Norte do país. Trata-se da segunda cidade mais importante da Alemanha. Uma imponente região metropolitana, terceiro porto da Europa, na desembocadura do Rio Elba. Devíamos fazer de tudo para promover nossa presença, pois foi lá que aconteceram os primeiros problemas de corrosão, ao final dos anos 70. Em 1987, a rede não havia se esquecido disso e mantinha distância de nós. Além de nossa contribuição para as especificações do Renault 19, duas iniciativas principais marcaram aquele ano. Meu jovem diretor de marketing havia sido transferido, e eu havia me recusado a receber um expatriado. A agência que fazia as contratações de executivos para a Renault teve a missão de encontrar este profissional, e Christian Grupe chegou a Brühl em junho de 1987. Além de ser um bom especialista em publicidade e conhecia a indústria automobilística (tinha vindo da Ford), era um alemão com cultura internacional. Ele tinha um grande poder de decisão e uma boa visão do mercado. Colocando-o a par do nosso plano de batalha para o Renault 19, eu disse a ele que, antes do lançamento, seria necessário dar garantias ao público, à imprensa e à rede. Era importante mostrar que havíamos entendido o funcionamento do mercado, e que voltaríamos ao status de primeiro plano. A manobra seria complicada, e seria necessário um ano para realizá-la, mas nosso sucesso ultrapassaria nossas previsões. 40
Sabia-se, por exemplo, da grande importância do meio ambiente para a Alemanha, e da força do Partido Verde, cujos membros são conhecidos como os Verdes, ou Die Grünen, em alemão. Atualmente, o partido faz parte do governo a ponto de estar na presidência ou participar da gestão de algumas regiões, como Baden-Württemberg, mais recentemente. Há vinte anos, o movimento já era influente e, sob meu ponto de vista, as ideias que eles defendiam eram amplamente compartilhadas por toda a população e por todos os partidos políticos. O país estava bastante preocupado com a perda das florestas provocada pela chuva ácida e a poluição do Rio Reno, artéria vital para o país. No inconsciente coletivo, a floresta e o Rio Reno (Vater Rhein, ou o “Pai Reno”), fazem parte do patrimônio da nação, e as pessoas sentiam uma espécie de culpa coletiva tendo em vista a industrialização e a urbanização exagerada que poluía a natureza e a transformava de forma perene. Junto com as indústrias, o automóvel se tornou um bode expiatório, em razão das emissões de poluentes, tais como óxidos de nitrogênio, monóxidos de carbono e partículas, no caso dos veículos movidos a diesel. Os americanos e suíços estavam um passo à frente. Sob a influência ativa dos franceses, a Europa havia adotado a norma “ambígua”, conhecida como 15-05. A maioria dos alemães a recusava e algumas montadoras tiveram que incluir em seus catálogos versões que obedeciam as normas americanas, as quais os clientes preferiam comprar, apesar do preço mais alto. Na verdade, estas normas exigiam o uso de catalizador e injeção indireta, com uma restrição adicional e bastante considerável: o uso exclusivo de gasolina sem chumbo. Mas esta era quase impossível de se encontrar, e as distribuidoras de petróleo faziam das tripas coração para aumentar a disponibilidade. Os pobres suíços que passavam as férias na França tinham muito trabalho para reabastecer. Eu mesmo, mais tarde com meu Renault 25, que correspondia às normas americanas, calculava meus trajetos na região da Bretanha em nível milimétrico. Eu reabastecia no estacionamento localizado no bairro parisiense de ChampsÉlysées e depois no posto Esso de Plougoumelen, próximo a Vannes. Lá, eu saía do carro e pedia a chave da bomba de combustível ao gerente. As crianças deliravam. Seria interessante atender a demanda natural do mercado? O acordo firmado pela Comunidade Europeia era principalmente resultado dos esforços de dois presidentes da indústria automobilística francesa, Raymond Levy e Jacques Calvet, sendo o primeiro deles meu chefe. E apesar do custo adicional da norma americana (pelo menos 2.000 francos à época), havia uma grande tentação de fazer um grande alarde disso para demonstrar que estávamos alinhados com os desejos do mercado. Ou seja, ser mais alemães que os alemães. Assumimos este risco um ano antes do lançamento do Renault 19, principalmente para assentar os fundamentos de nossa estratégia de reconquista. Ainda era necessário convencer a todos a respeito disso. As circunstâncias nos ajudariam neste sentido. Tínhamos um conhecimento superficial a respeito das normas americanas. Apesar de disponível, infelizmente a gama de produtos específica para o mercado suíço não seria suficiente para satisfazer o grande mercado que almejávamos. Mas foi do lado americano que uma luz brilharia. Naquela época, a Renault vendeu a American Motors e a emblemática marca Jeep para a Chrysler. Os engenheiros tiveram que voltar para a França, e foi isso o que aconteceu com Philippe Ventre. Todo o investimento feito para adaptar os veículos Renault às normas americanas acabaria na conta de lucros & perdas... Paradoxalmente, a situação acabou se voltando em nosso benefício, pois todo o pessoal técnico estava ocioso e disponível quase imediatamente. Fiz uma ou duas viagens à Rueil-Malmaison para verificar a possibilidade de passar a linha de produtos destinada ao mercado alemão às normas americanas. Não seriam feitas concessões. Partiríamos do zero, excluindo os veículos condizentes com a norma 41
europeia 15-05. Christian Grupe havia dito que, se fizéssemos isso, seria de uma só vez e sem concessões. A engenharia de projetos confirmou a possibilidade de modificar toda a gama de produtos, mesmo tendo sentido o peso desta decisão ao ter uma posição contrária à diretoria de produto, que só enxergava a complexidade da operação. A permissão da diretoria de marketing só foi obtida da boca para fora, pois nenhum analista de pesquisa tinha se sensibilizado pela causa verde. Até hoje, não sei se a Direção Geral foi informada sobre isso. Havíamos aberto uma brecha que levaria no futuro à norma Euro 6 (após 2015, para os novos produtos). Ao final, o realinhamento da gama foi conduzido com rédeas curtas, de forma que estávamos prontos para movimentar a rede em maio de 1989. A agência Publicis preparou uma campanha focada em dois temas: “Sentimos muito, senhor Ministro das Finanças. Todos os veículos Renault passarão a respeitar as normas americanas” (a campanha fazia referência ao Ministério das Finanças alemão, que acabava de oferecer um incentivo fiscal de 750 marcos alemães para os veículos que respeitassem estas normas). “A partir de agora, só comercializamos veículos que respeitam as normas americanas”. O efeito foi considerável tanto sobre a rede de concessionárias como sobre a imprensa especializada e os clientes. Além disso, contávamos com mais um fator importante: a melhoria dos atributos técnicos oferecidos pela injeção direta. Pela primeira vez em muito tempo, tivemos direito a um editorial na revista Motorwelt da ADAC, com um título bastante claro: “Muito bem, Renault!”. O bom humor reinava na diretoria da Renault Alemanha. No Salão do Automóvel de Frankfurt, que aconteceu logo após esta iniciativa, nosso estande – como sempre muito bem preparado pelos especialistas da marca –, estava decorado com muitas plantas e verde. Também era possível ouvir pássaros cantando. Tudo isso para representar nossa opção por veículos 100% antipoluição. Com exceção da Opel, a concorrência não havia se antecipado e demorou a adaptar sua gama de produtos. Recebemos a visita do Presidente da PSA Peugeot-Citroën, a quem fui apresentado. Ele observou nossos motores menos poluentes e os painéis, que diziam em alemão: “Renault Alemanha, apenas catalisadores de três vias regulamentados, tecnicamente equivalentes às normas americanas US86”. Ele ouviu os pássaros e me disse: “Vocês traíram a Europa”. Teria ele sido sincero? Ou estaria ele simplesmente decepcionado consigo mesmo, por não tê-lo feito também? Eu jamais viria a sabê-lo. As vendas continuavam insignificantes apesar disso, mas estávamos totalmente focados no lançamento do Renault 19, sobre o qual havíamos colocado todas as nossas esperanças de recuperação. A empresa estava a todo vapor, aguardando o dia “D”. Foi exatamente neste momento, em meados de 1988, que fui contatado por Paul Percie du Sert, novo diretor comercial mundial da Renault, que – com razão – estava preocupado com nossa aparente estagnação. Ele me pediu para encontrá-lo com uma lista de propostas de ações para a Alemanha. Fui até a matriz, que na época ainda se localizava no Cais do Point du Jour, em Boulogne-Billancourt, e subi até o 8º andar. A recepção foi calorosa como sempre, intercalando tratamentos mais ou menos formais. Já era de se esperar que Paul não se contentaria em discutir um único assunto. Conversamos por uma hora e meia, sendo trinta minutos úteis, pois durante nosso encontro, fomos interrompidos continuamente por
42
telefonemas. Isso, a meu ver, era o oposto do estilo de gestão alemão, no qual as coisas são feitas uma após a outra e, de preferência, seguindo uma ordem. Havíamos preparado muito bem este encontro e organizamos uma lista com dez itens de uma importância fundamental, para garantir a recuperação da Renault no mercado alemão. Cada um destes itens representava uma despesa. Pelo que me recordo, saí deste encontro caótico com três promessas: - Um acordo (verbal) para posicionar o preço do Renault 19 de forma agressiva. Eu havia explicado longamente a respeito da situação do tipo ‘ou vai ou racha’, preparada pela Renault Alemanha; - Além da garantia contratual de 12 meses, um acordo para custear as reparações nos casos comercialmente justificáveis. O objetivo era fidelizar os clientes que confiavam na marca. Isso era essencial para a rede, garantindo tranquilidade para o pós-venda; - E apenas para a Alemanha, a extensão da garantia anticorrosão para oito anos. Assim, ofereceríamos o maior prazo de garantia do mercado. Confesso que cheguei a esfregar os olhos quando saí da sala dele. Estava convencido que a tecnoestrutura barraria tudo isso e, apesar da sinceridade e do poder do diretor comercial mundial, estas “promessas” não seriam cumpridas. Na verdade, elas foram cumpridas, mas com bastante dificuldade – não no caso da segunda, mas sim da primeira e, principalmente, da terceira, que violava todas as regras e foi decretada fora dos procedimentos, tendo sido fortemente criticada pelos engenheiros e pelo pessoal do pós-venda. Voltei para Brühl satisfeito com a ideia de colocar em prática tudo o que eu havia conseguido. Em uma breve conversa na segunda-feira pela manhã, durante o Comitê Executivo, comuniquei que seria implementada a extensão de garantia anticorrosão em toda a rede. Como acontecia em cada quadrimestre, fizemos uma reunião em cada diretoria regional, da qual participava toda a rede de concessionárias. O objetivo era lançar o planejamento comercial para os quatro meses seguintes, com todos os seus componentes. Este era sempre um momento importante, pois sabemos como funcionam os alemães. Eles têm uma obsessão pelo controle do tempo, e ficam perdidos quando acontece um imprevisto. Sob este ponto de vista, as empresas francesas não eram exemplares: mudanças e alterações eram corriqueiras, tanto na Renault como em toda a parte. Os concessionários compreendiam bem que os ajustes eram indispensáveis, mas não queriam ser pegos de surpresa, e preferiam ser avisados antecipadamente. Por isso, estabelecemos planejamentos comerciais para quatro meses, com atualização mensal por escrito. A melhoria foi sensível, visto que a matriz conseguiu se adaptar sob a direção de Raymond Levy. Quando estava na França, sempre lembrada desta postura alemã em relação ao tempo e compreendi também por que ter uma pane no carro era um drama. Revelamos a boa nova em Hamburgo, principalmente porque foi no Norte da Alemanha que os prejuízos causados pela corrosão haviam sido maiores. O segredo estava bem guardado e fizemos uma apresentação diferente das outras. O plano quadrimestral foi explicado sem minha intervenção, enquanto que o normal seria haver uma participação minha. Assim, sentei-me na primeira fila no auditório e, quando Udo Jordan concluiu a apresentação, ele desceu do palco e hesitou. Voltou ao microfone e disse que havia uma informação especial a ser comunicada a eles, tendo em vista que Hamburgo havia sido escolhida como prioridade. O que eles teriam pensado sobre isso? Os concessionários costumam se comunicar, adoram 43
rumores, refazem os organogramas da matriz, desconfiam das novidades de produto. Teriam eles imaginado que sairíamos do mercado? Que a minha missão teria terminado, e que eu anunciaria minha partida, o que explicaria o meu silêncio até então? Percebi a tensão aumentando, e demorei um tempo para ajustar o microfone. O que estava em jogo na minha cabeça era a reconquista da confiança da rede de concessionárias Renault. Sem floreios, anunciei rapidamente a mudança do prazo de garantia anticorrosão para oito anos. Todos se levantaram, mesmo sendo alemães do Norte, que são conhecidos por sua reserva e impassibilidade, ao contrário dos suábios, do Sul. Eles aplaudiram longamente e por vários minutos, para minha surpresa e felicidade. Para eles, a Renault finalmente demonstrava que entendia o mercado alemão, levando suas particularidades em consideração. A empatia com a rede era um elemento fundamental na venda de automóveis e lutar contra ela seria contraproducente. Nem todos os concessionários eram bons e eficazes, mas, em seu conjunto, a rede era uma arma de venda indispensável. E quando há um problema, ele é local, tratado tête-à-tête e sem impacto em termos de grupo. Estamos em meados de 1988 ou quase isso. Desde que cheguei, as vendas estão estagnadas e o resultado consolidado está negativo. A rede de concessionárias depende financeiramente da matriz. Entretanto, nos últimos dezoito meses foi possível elaborar uma estratégia fundamentada no novo modelo que seria lançado no ano seguinte, em meados de maio ou junho. Este novo carro adotaria as novas normas antipoluição, as mais rigorosas naquela época, e um novo clima de confiança havia sido instaurado com a rede, evitando que as concessionárias mudassem de marca representada. Poderíamos passar para a ofensiva.
44
VII Le Touquet-Paris-Plage
Ainda faltavam quatro operações a serem finalizadas antes da chegada do veículo ao mercado: o preço, a publicidade, o lançamento para a rede de concessionárias e para a imprensa. As primeiras unidades do Renault 19 estavam sendo montadas na fábrica Georges Besse, na cidade francesa de Douai. Foi com surpresa que descobrimos que a apresentação à imprensa aconteceria em Touquet. Normalmente, a área de Comunicação escolhem locais bem mais glamorosos ou exóticos. O Renault 21 sedã tinha acabado de ser revelado em Sanaa, no Iêmen. Posteriormente, o Renault Laguna foi anunciado de forma majestosa na Tanzânia. Os concorrentes rivalizavam no quesito imaginação, e os jornalistas ainda comentavam sobre o lançamento bombástico do Fiat Uno em Miami. Touquet não tem muitos habitantes (apenas 6.000 fora da temporada), e a estação balneária não é muito animada em outubro, já que o clima não é exatamente favorável nesta época. Mas Le Touquet fica próximo de Douai e de Paris, e a economia de recursos estava entre as especificações para o evento. Ninguém tinha se dado conta de que a baía de Somme ficava bem próxima. Veríamos mais tarde que, do ponto de vista da imprensa alemã, esta seria uma apresentação de produto ecológica. O item mais difícil, e até mesmo mais conflituoso, foi o preço. O preço de lançamento se aproximava da situação de lançamento de um satélite: se muito elevado, não decola, se muito baixo, o fabricante não consegue cobrir as despesas. É ainda mais importante que o preço de lançamento no mercado esteja em linha com o veículo, pois ele é imediatamente considerado caro, barato ou equilibrado. Na época do Scénic, o pequeno monovolume da Renault, eu era responsável pela Diretoria Comercial da Renault na França, e batalhei bastante para chegar a um preço acessível, abaixo de 100.000 francos. Comprometi-me por escrito a reajustar o preço se o produto vendesse bem, mas ninguém sabia como este segmento de mercado seria recebido pelos consumidores. Como a demanda explodiu três meses depois, ajustamos os preços. Além de ser um veículo acessível, a reputação do Scénic foi conquistada pela durabilidade. Apesar da promessa do diretor comercial mundial de fazer tudo pela Alemanha, a mecânica de decisão continuou implacável. A demanda provém do país, conforme a democracia gerencial. Minha equipe contava com brilhantes trabalhadores voluntários (Voluntário do Serviço Nacional Ativo, atividade chamada também de serviço cívico, em oposição ao serviço militar), que prepararam um dossiê de lançamento de alta qualidade. Do ponto de vista de Brühl, as informações de referência eram obrigatoriamente alimentadas pelo mercado e pelos preços do varejo da concorrência (Golf, Opel Kadett, Ford Escort, entre outros). O preço de lançamento do Renault 19 foi ajustado com base nisso, fixando próximo daqueles praticados pela Opel. De forma sincera, havíamos mantido uma pequena margem de manobra, mas não muita. Na matriz, o raciocínio era totalmente diferente. Com um batalhão de analistas de preços de mercado extraordinariamente competentes, o país é considerado como uma variável de segunda ordem. O preço é normalmente calculado segundo uma estratégia bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Pegamos o preço de custo do produto e incluímos a porcentagem correspondente à margem bruta, conforme a rentabilidade buscada. Os analistas podem corrigi-lo para mais ou para menos. Finalmente, não é o mercado (ou a concorrência) que 45
serve de base, mas o custo da empresa. Ao obedecer este processo, a diretoria comercial (área de marketing) trai sua própria vocação, que é a de determinar os preços em um ambiente concorrencial. Se o preço que ela calcula fica muito baixo em relação aos custos, a direção geral dispara um alarme, pois sobre ela recai a decisão final. Em outras palavras, posicionar-se desta forma é forçar a empresa a olhar para suas próprias fraquezas e questionar a cadeia de decisão que, no início do processo, levou a esta situação. Não é fácil. O que podemos fazer é torcer o nariz e partir à conquista dos clientes. Se você não oferece uma boa relação custobenefício, eles voltam para casa ou simplesmente nem aparecem. Em marketing, dizemos que o produto não entrou na “lista de desejos” dos clientes. Em 1985, como jovem diretor comercial em Lyon, eu estava no camarote para o lançamento do modelo Supercinq, que tinha a pesada tarefa de suceder o mítico Renault 5, cuja participação de mercado havia atingido os 15% na França. O carro não era ruim e fez uma bela carreira, tornando a vida do Peugeot 205 mais difícil. Ele tinha um custo de produção alto, a plataforma e a base motriz eram novas, e o estilo (mais arredondado), lembrava a “cara” do Renault 5. Existe uma regra intangível: em menos de 15 dias, é possível saber se o lançamento será bemsucedido. A decolagem não aconteceu e os vendedores (que são bons indicadores sem equações ou estatísticas), disseram: “Chefe, ele é muito caro!”. Este foi um exemplo de preço calculado em função do preço de custo e dos investimentos feitos. A França era o mercado principal da Renault e o Supercinq seu principal modelo em termos de volume. O sucesso parecia evidente e a cadência de produção havia sido definida para cima. A catástrofe se anunciava no horizonte, com estoques elevados e suspensão temporária dos contratos de trabalho, apenas algumas semanas após o início da produção. No início de dezembro, todos os diretores regionais se encontraram em Estrasburgo para a reunião mensal do comitê comercial. Imediatamente, Hubert d’Artemare, que presidia o comitê, nos questionou: “o que está acontecendo? Por que vocês não estão fechando pedidos? Temos um parque cheio de Renault 5 para ser substituído!”. Éramos 12. Não só afirmamos faltava atratividade (ou novidades) no modelo, mas que ele também estava desalinhado com o mercado, conforme o jargão da área comercial. O responsável pela França tinha um plano, que seria testado para ser aprovado junto à direção geral. A estratégia era simples: pegar toda a gama de produtos e dar a cada versão um ajuste de preço substancial; ao mesmo tempo, os primeiros compradores seriam muito bem tratados. Isso foi feito em três meses e a trajetória comercial do modelo foi boa, mas, infelizmente, melhor que o resultado da empresa. Podemos não gostar dele, mas o mercado é indispensável. É perigoso não levá-lo a sério e se fechar em uma torre de marfim. Uma empresa não pode ser autista. Dez anos mais tarde, revivi a mesma aventura. Eu era diretor comercial da Renault na França há dois anos (1996), e o mercado nacional estava saindo de dois anos de “dopagem” fiscal, amparado pelos incentivos de recompra de veículos mais antigos, destinados à destruição (política de Balladur, seguida da política de Alain Jupé). Tanto a Renault como a PSA haviam aproveitado bastante deste recurso. Mas ele apresenta um grande problema: um dia é preciso abandoná-lo. Nossos concorrentes mantiveram o preço apesar do final dos incentivos fiscais, principalmente os importadores. Para eles, o mercado francês era secundário e, por isso, eles podiam se dar ao luxo de reduzir seus preços e, desta forma, tentar ameaçar nossa liderança. Apesar de eu ter mostrado que estávamos fora do mercado, o setor de preços continuou a aplicar seu método de cálculo, ou seja, preço de custo + margem + lucro. E as vendas começaram a desmoronar. A 46
indústria automobilística é fortemente capitalista e vive de volumes, o que permite que ela sature suas capacidades de produção, por definição, pouquíssimo flexíveis. Após seis meses, consegui marcar de urgência uma reunião de aproximadamente meia hora com Louis Schweitzer. O encontro aconteceu em uma sala em nosso estande no Salão do Automóvel de Genebra, em 1995, invadido pela música ambiente do estande da Mercedes, que ficava ao lado. Toda a minha equipe estava lá, e eu tinha viajado para lá especificamente para isso, pois estava de férias no Vale do Rio Isère. O encontro se eternizou por quase duas horas. Acho que o presidente da empresa ficou mais branco do que a toalha que cobria a mesa. Nas entrelinhas, dissemos que a Renault havia perdido o controle de suas despesas e que o mercado não suportaria isso. Não houve decisão imediata, e dirigi de volta pelas curvas de Vale do Isère, consciente de ter desestabilizado o Presidente. O problema era muito mais trágico que a presença da Renault na Alemanha dez anos antes, pois o coração do binômio volume + lucro estava doente, já que a França era então responsável por quase toda a margem do grupo. Quatro meses depois, lançamos junto com a rede uma “nova política comercial”, artifício inteligente para um realinhamento de preços. O custo anual era de dois bilhões de francos. Lembro-me que Louis Schweitzer havia me dito: “Este cheque foi assinado em nome do sucesso, e só temos um”. Chegamos a nos lembrar desta situação extremamente difícil da empresa, quando aguardávamos o avião que nos levaria do Rio de Janeiro para São Paulo, durante a visita oficial do primeiro-ministro francês ao Brasil. Ele deu um tapinha nas minhas costas. Cinco meses mais tarde, chegava Carlos Ghosn, de quem eu admirava a mágica simples e autoritária por meio da qual ele ensinou a Renault a reduzir os custos. Esta longa digressão não nos distancia da Alemanha. Após muita conversa, recusamos o posicionamento de preços para o Renault 19. Eu havia dado três instruções: foco no mercado, preço atrativo e, por cima disso tudo, ter uma grade de preços “inteligente”. Havíamos feito algumas concessões a respeito dos dois primeiros pontos, mas não poderíamos ceder em relação ao terceiro. Bem gerenciada por Christian Grupe, a equipe de V.S.N.E. (Diretoria de Vendas Especiais e Exportação) havia elaborado uma arquitetura de preços “feita para os vendedores”, e eu diria que até mesmo para os mais “limitados” em aritmética. Era o contrário das atuais promoções de telefones celulares, cuja complexidade é inacessível ao mais comum dos mortais. Como havia três tipos de versões e três motorizações, era necessário oferecer alguma vantagem para escolher a versão 2 em vez da versão 1. Ou seja, deveria ser mais vantajoso comprar a versão 2, com vários opcionais de série, do que comprar a versão 1 e adquirir cada opcional separadamente. Isso seria uma forma de alavancar as vendas, o faturamento e a imagem da marca. Nosso projeto seguiu com um parecer desfavorável. Eu sabia que ele chegaria às mãos de Raymond Levy, da mesma forma como acontece em toda a indústria automobilística. Philippe Gamba, que na época era diretor mundial de marketing, estava consciente dos desafios e da importância da recuperação da Renault na Alemanha. Ele acalmou o ânimo de suas equipes e nosso projeto voltou para nós por volta do final de outubro de 1987. Ele estava adequado às nossas projeções de vendas, o que foi evidenciado pelos aplausos da rede de concessionárias quando revelamos os preços em Mônaco, algumas semanas depois. O segundo assunto conflitante dizia respeito à publicidade. Christian Grupe e eu queríamos que a comunicação desse destaque à robustez do produto (ou seja, destacar sua personalidade mais germânica, algo que a matriz não queria). Havíamos previsto uma verba no orçamento 47
para isso, uma “massa de investimento inicial” de pelo menos 25 milhões de marcos alemães, um valor do qual jamais havíamos disposto antes. Ele nos foi concedido sem grandes dificuldades, mas era necessário subtrair as despesas de criação de uma campanha especificamente alemã, caso quiséssemos manter nossa exigência inicial, que foi mantida. Conforme a organização da agência Publicis na época, os criativos de todos os países participavam desde o início do projeto, e as melhores propostas eram escolhidas. Devido à sua importância, a Publicis França frequentemente fazia a diferença e, sem maiores rodeios, os controllers financeiros nos pressionavam a adotar uma mesma comunicação internacional, independentemente do país. Aquilo que nos mostraram estava fora de cogitação para a Alemanha, pelo menos do nosso ponto de vista tendo em vista que, em matéria de criação publicitária, a subjetividade é importante. Na verdade, com exceção dos países europeus do Norte (Alemanha, Holanda, Suíça, Áustria, Suécia), o modelo já não era tão apreciado, e há sempre uma correlação entre a estima em relação ao produto e “a potência criativa” dos publicitários. Já a equipe de Frankfurt estava bem entusiasmada; talvez porque ela sabia que a Renault Alemanha ganhava bastante com o modelo, ou simplesmente porque ela percebia que se tratava de um carro adaptado à clientela germânica. Ela criou um projeto bem diferente da referência da marca, que era “Carros para Curtir” (Autos zum Leben): um tornado surgia quando o carro aparecia no deserto e um avião de caça decolava para descobrir qual máquina poderia ter disparado tamanha potência (dinamismo e robustez), anunciando à base aérea: “É um Renault 19!”. Tudo havia sido feito com um toque propositadamente espetacular para chamar a atenção. Provavelmente devido a um problema de cultura, esta proposta foi abandonada pela ala latina dominante da empresa. Para resolver o impasse, foi organizada uma reunião de “conciliação” com urgência, no aeroporto de Frankfurt. Neste e em outros casos, tínhamos o apoio categórico da diretoria responsável pela região Europa. Os publicitários alemães foram hábeis e convincentes e, finalmente, tivemos o sinal verde sem, entretanto, poder evitar os narizes torcidos do setor de publicidade global da empresa. O comercial foi gravado no deserto de Nevada, o avião de caça com motor a reação pertencia a um colecionador, e o resultado ficou de acordo com o que esperávamos. No final das contas, a verba alocada para a publicidade não foi modificada, mesmo que o custo deste comercial tenha sido elevado. Isso foi possível graças a economias feitas em outras áreas da empresa, pois – e este era um ponto capital –, era essencial que a notoriedade do carro chegasse ao público em geral antes de os vendedores ou o boca a boca fazerem o seu papel. A publicidade é tão indispensável quanto um equipamento do próprio veículo. Pela primeira vez na história da Renault Alemanha, pudemos ter os meios para isso. Estávamos prontos para um encontro com a imprensa. Mas não foi o caso. Por telefone ou fax, recebi uma convocação de urgência para um encontro com todos os responsáveis pela área comercial da empresa de várias partes do mundo para um encontro com o presidente no subsolo da matriz, no anfiteatro Georges Besse. Todos estavam lá conforme previsto; isso não era nem um pouco banal e esta precipitação não pressagiava nada de bom. O presidente entrou com a cara fechada, apesar de ter um quê de malícia no olhar. Ele estava acompanhado pelo novo diretor da qualidade, Pierre Jocou, a quem ele havia dado o poder de dizer “não” em todos os níveis de decisão. A explicação foi sucinta: o lançamento 48
mundial da Renault 19 havia sido atrasado em três meses para permitir que a área de projetos, compras e fornecedores estivessem alinhadas com o nível exigido. Assim, o calendário do lançamento seria revisto e a França deveria ter o carro disponível em prioridade, como sempre. Não houve muitas explicações sobre as razões deste atraso; o novo carro não era mais difícil de ser produzido do que qualquer outro, com exceção do ajuste das novas portas, mais aerodinâmicas, o que era moda na época. Era a primeira vez na história da Renault que uma decisão deste tipo era tomada, pois tanto a área industrial como comercial pressionavam para ter o produto o mais rápido possível. Às vezes isso acontecia em detrimento da qualidade, e as primeiras séries acabavam servindo para azeitar as máquinas. Os eventuais defeitos eram corrigidos conforme apareciam. Essa era a tradição, e os quatro casos mais célebres foram dos modelos Frégate (1952), Renault 4 (1961), Renault 8 (1961) e, mais tarde, Renault 14. Estas falhas levavam automaticamente a uma perda significativa de faturamento. A plateia ficou boquiaberta. Rapidamente calculei que o lançamento na Alemanha, previsto para uma data ideal (outubro de 1988), teria que ser modificado e que o prazo adicional pressupunha um lançamento no mercado no mês de janeiro, um dos mais fracos do ano na área de vendas. Tentei pleitear para ser um dos primeiros e lançar o carro o quanto antes na Alemanha, ao mesmo tempo em que a França, mas não obtive sucesso. A Alemanha viria a ser o último país de lançamento na Europa. Pelo menos – me disseram – vocês não vão pagar o pato das primeiras séries, um argumento no mínimo contraditório, já que a produção foi atrasada para otimizar o processo da qualidade. Em Brühl, reinava a consternação. Estávamos na pior das situações, pois a fabricação do modelo em curso estava decidida e contingenciada por país. Seria difícil de gerenciar o segundo semestre de 1988. E as estimativas se confirmaram, pois a participação de mercado da Renault caiu para menos de 3% em outubro, novembro e dezembro. Já estávamos abaixo do ponto de equilíbrio e o sucesso do Renault 19 era mais do que imperativo. Não tivemos um bom Natal. Contudo, foi justamente esta decisão que inaugurou uma era de progressão excepcional em termos de qualidade sob o comando de Raymond Levy e Pierre Jocou. Essa “tempestade” transmitia uma mensagem clara à engenharia, compras, e produção: a prioridade era para a qualidade, que passava a ter um status superior a todas as outras considerações. A Alemanha aproveitou plenamente disso não apenas no caso do Renault 19, mas também com o Clio e o Twingo. Pensando naquele episódio, ainda me pergunto se os problemas mencionados eram mesmo tão graves. Mas no grande teatro da gestão, era necessário fazer uma intimidação e dramatizar. Na verdade, o objetivo não era o novo modelo que estava nascendo, mas ia muito além. Era necessário fazer com que a empresa compreendesse, de cima a baixo, que a qualidade ou “fazer certo da primeira vez” se tornaria a prioridade absoluta. Deste ponto de vista, essa decisão foi uma conquista formidável e marcou uma ruptura com o passado. Acabei me convencendo da importância deste ponto de vista através de outra história que aconteceu comigo em junho de 1992, nas vésperas do lançamento do Twingo. Pierre Jocou me ligou na Alemanha e pediu que eu fosse vê-lo na área de projetos para examinar os protótipos. Ele tinha dificuldade para fazer com que a área de carroceria produzisse um teto suficientemente plano e sem ondulações para o carro, o que era, entretanto, o mínimo que se esperava. A reunião aconteceu em torno de vários veículos, que foram analisados. Pierre me disse que eu era “a voz da Alemanha”. Por isso, eu era visto como alguém intransigente em 49
termos de qualidade e deveria, na ocasião, me pronunciar em relação ao aspecto do veículo. Confesso que não percebi nada de anormal, mas fiz o meu papel e, ao sair, Jocou me agradeceu, confessando que não havia muita coisa para melhorar, mas que ele faria o possível para o ajuste milimétrico do acabamento da carroceria (no jargão industrial, o ajuste da carroceria em branco, uma das coisas mais difíceis). Tudo isso nos levaria naturalmente à Le Touquet, mas em um outono cinzento...
50
VIII Mônaco
Junto com a pequena equipe de Comunicação (quatro pessoas) da Renault Alemanha, estávamos no Hotel Westminster de Le Touquet. Georg-Heinz Hommen, que havia conhecido os áureos tempos da Renault, na época do Renault 4 e do Renault 16, estava lá para receber pelo menos uma centena de jornalistas especializados, todos espantados por estarem no Norte da França, não muito distante de seu próprio país. Em geral, principalmente nesta época do ano, era mais comum ir para a Côte d’Azur, ou alguma outra parte do Mediterrâneo. Não era exatamente o calor que encontraríamos neste hotel agradavelmente antiquado: este seria um evento de lançamento frugal. Após ter passado dois anos na Alemanha, já conhecia quase todos os jornalistas presentes; meu domínio da língua tinha melhorado bastante e eu tinha prazer em conversar com eles. Dentro da estrutura do lançamento do carro, este evento era importante. Era necessário obter uma avaliação “globalmente” positiva a qualquer preço para criar um efeito de atratividade em torno do produto. Estávamos assentados em uma base sem muitos diferenciais, pois a marca despertava no máximo uma indiferença discreta, após todos esses anos de incompreensão mútua. As entrevistas podiam ser coletivas (os famosos briefings nos quais o ‘politicamente correto’ imperava) ou individuais. Mas era no tête-à-tête quando se dizia a verdade e podíamos obter o verdadeiro sentimento do jornalista sobre o produto. Percebi (e o mesmo acontece na França) a reticência instintiva que um profissional demonstra ao falar na presença de seus pares, que contrasta com a grande liberdade de expressão nas relações mais íntimas, seja para uma crítica positiva ou negativa. Também era importante confiar, filtrar algumas informações e, mesmo de forma sincera, expressar com discernimento quaisquer dúvidas ou expectativas, ou contar uma história vivida. A simpatia recíproca depende de um longo trabalho, mas faz parte da base da comunicação. O percurso de test drive foi um grande sucesso. De manhã, fazia tempo bom no interior naquela época de outono, e as estradas vicinais correspondiam ao estereótipo daquilo que os alemães adoram na França e no estilo de vida à francesa. Tudo isso imbuía o teste do produto com uma atmosfera descontraída. Para todos, inclusive para alguns franceses presentes, conhecer a Baía de Somme foi uma grata surpresa. A alma ecológica alemã e a mensagem de robustez estavam em harmonia. Eu me organizei para voltar rapidamente para Le Touquet para receber os jornalistas que voltavam do test drive. Cada um tinha algo para dizer ou comentar, o que permitiria avaliar a qualidade do evento. A impressão era boa. E até mesmo muito boa. Um jornalista mais impertinente saiu do carro sorridente e me provocou. Das ist aber kein Renault (“Esse não é um Renault”). E eu perguntei, sem rodeios: “Você está elogiando ou criticando”? Lembro-me de um sorriso no canto de seus olhos que serviam de resposta. Como é que essa Renault conseguiu fazer um carro destes adequado ao mercado alemão? Quando foram publicadas, todas as primeiras matérias tinham o mesmo tom e destacavam a robustez, uma impressão de solidez e o bom acabamento. No dia seguinte, que estava cinza como o Canal da Mancha, os jornalistas almoçaram com o Comitê de Direção Executivo da Renault. Mas como eles não falavam alemão, o encontro foi morno e apático. Felizmente, o almoço foi excelente. Retornamos felizes do evento, por 51
termos contribuído positivamente para o lançamento do carro. Agora, precisaríamos convencer a rede. E isso aconteceria em Mônaco. Antes disso, levei os concessionários para visitar a fábrica de Douai, para que eles conhecessem o novo produto, principalmente a forma como ele era montado. A demonstração do know-how industrial – essencial na cultura religiosa que os alemães têm pela indústria – fazia parte dos elementos de prova da capacidade da Renault. A fábrica – impressionante e a mais importante do Grupo naquela época e durante muitos anos – recebeu os alemães com grande simpatia e uma enxurrada de informações técnicas. A visita durou várias horas, terminando com um jantar bem simpático com os engenheiros. A limpeza e a modernidade das instalações industriais e a organização das bordas da linha de montagem mostravam que a empresa estava no melhor nível. Nossos anfitriões não imaginariam que a fábrica mais tarde trabalharia 3 dias de cada 6 para o mercado alemão. Mas, naquele momento, ninguém poderia imaginar isso. A convenção da rede aconteceu no centro de eventos Nikaia em Nice e o jantar de gala no Centro de Eventos Sporting em Mônaco, com a participação de aproximadamente 2.200 membros da rede. Eles chegavam aos lotes no aeroporto de Nice. O show, organizado pelo pessoal de Paris, permitiu ao mesmo tempo explicar sobre o produto e todas as suas características, servindo de pré-treinamento. Eu tinha a responsabilidade de fazer o fechamento do evento e estava bem apreensivo. Eu ainda ficava incomodado pela prática da língua e não tinha um teleponto (que surgiria posteriormente), além de estar angustiado pela importância do desafio: não apenas estávamos apostando tudo neste novo produto como também estávamos atacando as montadoras locais no segmento em que elas eram mais fortes. Assim como na arte da guerra, a teoria de marketing recomenda a diferenciação e a surpresa, com produtos inesperados, como já havíamos feito o Espace e como o faríamos, três anos mais tarde, com o Scénic. A rede alemã normalmente não aplaude, e pode até mesmo se mostrar bastante desagradável. Nosso objetivo era conquistá-los e, quem sabe, entusiasmá-los. Em meu discurso, além de falar do carro que eles iriam adotar, eles esperavam que eu os tranquilizasse a respeito de dois pontos: volume e preço. Os dados haviam sido preparados cuidadosamente, e o sucesso da convenção dependia da aceitação deles. Os volumes de veículos disponíveis eram essenciais, pois faziam parte das obrigações contratuais de cada uma destas empresas. Já o preço era fundamental para garantir os volumes de vendas. Assim como em um psicodrama, estes dois elementos vinham logo antes do fechamento. Eu decidi ser razoável em relação aos volumes e a matriz aceitou minha decisão. É verdade que não poderíamos ir muito aquém dos números de novembro de 1987. Com toda a transparência e ao mesmo tempo os desafiando, eu disse a eles textualmente: “Vocês podem fazer ainda melhor. Temos todos os trunfos para colocar o Renault 19 no primeiro patamar dos veículos importados na Alemanha”. O silêncio que recebeu esta frase foi ensurdecedor. Depois, passei aos preços, fazendo uma comparação com a Volkswagen e a Opel, demonstrando que, com nível de equipamentos semelhante, atacaríamos com um preço bem atrativo, pelo menos no início. Foi como um alívio para eles: a plateia aplaudiu veementemente, mostrando uma convicção com a qual não estavam acostumados os mais antigos, inclusive o meu chefe. Iniciamos o test drive pelos caminhos íngremes da cidade mais tarde, seguido de um jantar simpático no Centro de Eventos Sporting, cujo grande domo foi aberto sob um céu magnificamente estrelado. Proibido durante o almoço, o vinho francês foi servido em todas as 52
mesas, e o consumo chegou a ser excessivo em alguns momentos. De qualquer forma, retornamos para nossos hotéis em Nice com ônibus de turismo. Tudo estava pronto: o produto estava de acordo com o gosto do cliente, dando uma impressão de forte robustez, com motores que poluíam menos, além de ser oferecido por um preço que no final das contas era atraente, e o design também agradava (o que não era o caso em todos os países). Criada pela agência alemã, a publicidade agradou a ponto de ir ao ar em outros países, e a rede ficou tranquilizada com a garantia anticorrosão. A matriz, que nos ajudou bastante, estava observando tudo de perto. Certamente Raymond Levy tinha certa impaciência e até mesmo ceticismo em relação a isso. Afinal de contas, fazia dez anos que a marca só recuava no mercado alemão. Como se fossem manobras em uma tourada, a hora da verdade estava se aproximando, ou seja, o encontro com o comprador – o cliente. Pedi para Udo Jordan – o diretor comercial – para não economizar em imaginação. Lançaríamos o carro em pleno mês de janeiro, duas semanas depois das festas de fim de ano, com todo o cortejo de despesas para as famílias. Ninguém na indústria automobilística se arriscaria a escolher tal data, sobretudo em um país frio. Era necessário atrair o público, trabalhar o boca a boca, criar o interesse, enfim, conseguir o maior número possível de pedidos. A Renault Alemanha tinha uma boa experiência em promoções comerciais organizadas em fins de semana, e os concessionários sabiam tomar iniciativas. Aquilo que na França chamamos de “Promoção Portas Abertas”, um conceito inventado nos anos 80 por Hubert d’Artemare, servia de referência e funcionava muito bem na época. Transformamos o vocábulo em Renault Familien Fest (“Festa da Família Renault”). É preciso preparar este tipo de promoção com no mínimo seis meses de antecedência e, quando ela é lançada, se torna irreversível. Os investimentos feitos pela montadora e os distribuidores assumem um caráter de “custo fixo”. Não tenho mais nenhuma lembrança dos valores que havíamos estipulado na Alemanha. Na França, em média, gastávamos aproximadamente 25 milhões de francos. Era preciso que os pedidos estivessem à altura, pelo menos 2,5% a 3% do contrato anual de cada concessionária. Para um modelo novo, o patamar era ainda mais elevado. Na Alemanha nosso objetivo era de 5%, ou seja, pouco menos de 4.000 pedidos em quatro dias, ou ainda 8% das vendas anuais previstas no orçamento. Dependendo do resultado, os indicadores da área comercial começariam a piscar e seria necessário mudar as previsões de venda a partir de fevereiro. Sabíamos que havia carros disponíveis, pois o lançamento nos outros países havia sido mais tímido. A promoção teve duração de quatro dias, de 19 a 21 de janeiro de 1989. A escolha do dia 19 para o início do evento foi evidentemente simbólica, assim como o horário do coquetel de lançamento que, em cada concessionária, deveria iniciar às 19 horas e 19 minutos. Mais que uma brincadeira, era uma estratégia mnemônica de associar este evento ao modelo da Renault. Havíamos imposto uma única regra: cada pedido de compra assinado por uma mulher daria direito ao envio de um buquê de flores para a casa da cliente. Graças a esta pequena atenção, organizada com a colaboração da empresa Interflora, recebemos um grande número de cartas de agradecimento e elogios. A propósito, todos os veículos de imprensa haviam sido convidados, principalmente a imprensa regional, cuja importância é conhecida na Alemanha, sem esquecer a televisão. Ficava a critério de cada empresa desenvolver seu próprio
53
conceito, que era diferente conforme a região. A ideia de organizar “festivais de rua” havia sido desenvolvida na França. O sucesso é medido pelo primeiro pelo número de carros que lotam a entrada da concessionária e, depois, pelo número de pedidos assinados durante todo o fim de semana. Os concessionários alemães eram imbatíveis para organizar este tipo de evento. Só vi este tipo de ambiente na ‘Promoção Portas Abertas’, que eu organizaria mais tarde no Brasil. Na manhã do dia 19, tão logo acordei corri até a janela para ver como estava o tempo. Não estava chovendo e nem nevando. O céu estava claro, o que era bom sinal. Recebemos muita gente e muitos pedidos. Fomos obrigados a reabastecer o estoque a partir de fevereiro. Não foi bem um tsunami como no caso do Clio, dois anos depois, este também lançado em fevereiro e em plena guerra do Golfo, enquanto os mísseis scud caíam em Jerusalém. Os resultados que chegavam a nós atingiam um nível que não víamos há muito tempo, seguindo em sentido contrário ao que a marca vivenciava nos últimos dez anos. Terminamos o ano de forma positiva, com aproximadamente 65.000 unidades vendidas e chegamos muito perto do primeiro lugar entre os importados. Bastaria emplacar 500 carros de showroom antes de 31 de dezembro para garantir o primeiro lugar. Sabiamente, foi decidido que não passaríamos esse ônus para o ano seguinte. Pensando bem, nosso arriscado lançamento comercial em janeiro era desestabilizador para os outros. Nenhuma marca havia tido esta ideia (que se tornou obrigatória pelo calendário de disponibilização dos carros pela matriz). Éramos os únicos que faziam anúncios na televisão, nos jornais e no rádio, e os únicos a estar de braços abertos para os clientes naquele fim de semana. Utilizei a mesma estratégia na França, em janeiro de 1995, mobilizando a rede de concessionárias em uma Promoção Portas Abertas que teve grande impacto. A associação de concessionários comunicou sua reticência e muitos deles não participaram da ação, em um espírito totalmente contrário às boas relações que deveria servir de elo entre eles e a montadora. A ideia parecia arriscada e estranha. O mês de janeiro era o mês de promoções (o mês do branco, inventado em meio à incredulidade pelo fundador da loja francesa de departamentos Le Bon Marché). Eu copiei a ideia na indústria automobilística. Jantando com os concessionários pouco tempo depois, na matriz da associação em Chatou, nos arredores de Paris, os meus interlocutores se mostraram incomodados, e eles se convenceram de que aqueles que não participaram da ação haviam dado um passo em falso. Já aqueles que haviam participado da operação receberam um recorde de pedidos (mais de 25.000) naquele fim de semana. As visitas à rede de concessionárias alemã se tornaram mais fáceis: finalmente eles tinham um campeão de vendas no principal segmento do mercado. A concorrência percebeu rapidamente a força do produto e, ao viajar para Hannover, o diretor geral me entregou um documento interno da Volkswagen. A montadora havia elaborado uma ficha de produto detalhada do Renault 19, destinada aos seus vendedores. Foi uma leitura agradável para uma montadora de automóveis francesa, principalmente pelos elogios em relação à robustez e acabamento. Os vendedores da concorrência estavam em alerta; já os nossos estavam totalmente entusiasmados. O sucesso foi constante e as vendas progrediram de forma regular, terminando o ano – como já disse – em segundo lugar entre os veículos importados na Alemanha, sem que tivéssemos que sucumbir a qualquer tipo de devaneio promocional. Um sinal irrefutável da boa saúde do 54
produto vinha da porcentagem de vendas das versões mais bem equipadas (segmento E3), que se aproximava de 30%, o que ia muito além das nossas estimativas. O feedback da rede a respeito das reações dos clientes era bom, e as despesas de garantia eram significativamente inferiores às dos outros modelos da marca. A recompensa “quase oficial” foi entregue em 1980, quando a ADAC (o Automóvel Clube da Alemanha) publicou sua edição anual das estatísticas de socorro a veículos em pane, da qual ela tinha o monopólio. Três veículos estrangeiros apresentavam resultados melhores que os veículos alemães em matéria de pane de menor escala: o Nissan Sunny, o Toyota Corolla, e... o Renault 19. Fizemos uma festa e a informação foi enviada imediatamente a Raymond Levy e Pierre Jocou. As boas notícias vindas da Alemanha eram coisa rara nos últimos anos. E essa era uma notícia de peso. Em junho de 1989, o lançamento da versão com 16 válvulas, conhecida como Sport, foi uma oportunidade para falar novamente sobre o produto. Uma das regras de vendas consiste em continuar lançando novidades durante toda a vida de um modelo, que é de pelo menos seis anos. A apresentação de novas versões é uma das formas mais clássicas de fazer isso. O motor 16 válvulas era uma novidade na Renault, que teve todos os problemas do mundo para conseguir usiná-lo corretamente. A diretoria da divisão de motores estava pouco motivada e só apostava nos tradicionais motores de 8 válvulas que ofereciam – é bem verdade – maior leveza em rotações mais baixas. Apesar de ser apenas alguém da área comercial, tentei explicar que a multiplicação da oferta de motores de 16 válvulas, principalmente pelos japoneses, não era motivada pela esportividade (no imaginário da mecânica, 16 válvulas rimava com esportividade), mas pelos progressos que esta técnica proporciona em termos de despoluição. Todos ou quase todos os carros lançaram versões com 16 válvulas para satisfazer as condições da regulamentação europeia Euro 5. Para apresentar o carro, convidamos os jornalistas para um encontro no aeroporto RoissyCharles-de-Gaulle e fretamos um Concorde para ir para... Nice. A animação geral era quase palpável, mas a distância a ser percorrida muito pequena para ultrapassar a barreira do som. Para isso, a Air France fez um trajeto até o sul da Córsega para que a velocidade Mach 2 pudesse ser percebida na cabine. O avião, que ficou a postos durante dois dias, chamava a atenção dos curiosos, assim como o Renault 19 de 16 válvulas, cujo test drive foi feito no aeroporto Sophia-Antipolis. Seis meses mais tarde, tudo mudou. O Muro de Berlim estava prestes a cair. Havíamos passado de 520 concessionárias para 740. Uma nova Renault Alemanha estava prestes a nascer. Ela se tornaria o primeiro importador da Alemanha e primeiro país de exportação para a Renault no mundo. O local deste nascimento seria o Estádio Olímpico de Berlim.
55
IX Dresden
Fui a Dresden pela primeira vez em fevereiro de 1970. Cheguei à cidade através de uma rodovia que provavelmente não havia sido modernizada deste o III Reich e, em meio a uma iluminação insuficiente e à poeira de lignito em suspensão, me orientei pela estação central de trem (Hauptbanhof). É preciso dizer que, naquela época, não havia mapas das estradas da Alemanha Oriental (por motivos de segurança) e o GPS para uso civil ainda estava para ser inventado. Ao cair da noite, o escurecimento dos prédios era impressionante, e a cidade parecia não ter se recuperado dos bombardeios aliados, que quase a reduziu a nada em 1945. De manhã cedo, essa impressão era tão forte quanto no dia anterior, quando fui visitar a Frauenkirche (igreja de Nossa Senhora), ainda parcialmente em ruínas, e o Zwinger, o palácio dos reis da Saxônia, reconstruído graças às doações do grande irmão soviético, conforme dizia o letreiro à entrada. Sem melhorar em nada esta imagem tristonha, uma plataforma de concreto, circundada por edifícios habitacionais populares, se justapunha ao bairro histórico, traçando uma perspectiva desfiguradora. Estávamos longe da famosa Florença do Norte, uma imagem que foi em parte recuperada atualmente. Marquei um horário com o concessionário local, um jovem gerente de vendas da filial de Berlim que resolveu trabalhar por conta própria e estava iniciando uma aventura. A oficina havia sido instalada de forma improvisada. Os escritórios de vendas e administração se localizavam em contêineres, mas o conjunto era limpo e bem organizado. Como de costume, encontramos antigos Trabant vendidos a 90 marcos alemães a unidade, o que seria mais barato do que enviá-los ao ferro-velho. Para mim, Dresden era o exemplo típico de como seria constituída, consolidada e perenizada a nova rede de concessionárias do lado Oriental. Mas não vamos eliminar etapas. Voltemos agora quatro meses antes, quando acabávamos de alugar o Estádio Olímpico de Berlim, assinando um “vultoso” cheque para a ocasião. Luc Rosenzweig, o correspondente do jornal Le Monde em Bonn, me perguntou em off se eu tinha ideia do que estava fazendo: “É audacioso”, ele murmurou. O estádio não tinha nada de ordinário, tendo sido reformado para fins de propaganda política durante os Jogos Olímpicos de 1936 por Werner March. Monumental e com um acesso majestoso, tudo havia sido pensado para expressar a potência e a força, com materiais e formas maciças, passando pela capacidade das instalações, que podia acomodar até 100.000 expectadores. Importante na mitologia hitleriana e magnificada por Leni Riefenstahl, que foi capaz de filmá-lo como nenhum outro. O estádio também foi o teatro de uma afronta ao novo regime, as quatro vitórias do atleta negro Jesse Owens, e cujo caminho para a pira olímpica recebeu o nome dele. Eu já havia tido a oportunidade de visitar o local, mas como adaptá-lo aos nossos objetivos? Na Renault, o homem das convenções se chamava Lionel Bellina. Por isso, fui à procura dele. Ele ficou mudo por alguns segundos e depois, recuperando o fôlego, disse que eu receberia uma proposta e um orçamento em 48 horas. Como prometido, nos falamos dois dias depois. Ele se preocupou em utilizar toda a esplanada localizada atrás da pira olímpica, instalando três tendas gigantes capazes de receber aproximadamente 2.500 pessoas. Uma para a convenção propriamente dita, outra para o almoço que aconteceria na sequência, e uma terceira para expor todos os produtos e serviços da Renault Alemanha e seus parceiros. Construída por uma
56
empresa vinda da Holanda, a coisa começou a tomar forma. Mas o estádio continuava pelado e... vazio. A fileira de bandeiras e banners da marca não foi suficiente para preencher o estádio. Sugeri então preenchê-lo com carros: 500, o que corresponderia a 2 unidades para cada novo concessionário, com o nome da empresa, endereço e logo da Renault na porta dianteira esquerda. Assim, a pista de atletismo seria totalmente ocupada. A natureza tem horror ao vácuo, mesmo em Berlim. Ao final da cerimônia, a direção comercial havia previsto entregar as chaves e os documentos a cada novo concessionário, para que eles pudessem voltar para suas cidades com dois carros de demonstração. O diretor financeiro Arnold Jörger, que era suíço-alemão, perguntou quem financiaria tamanha quantidade de produtos e se os concessionários teriam condições de pagá-los caso fizéssemos um título de crédito transferível por meio de endosso. A pergunta já subentendia a própria resposta, pois ainda não havia marcos alemães do lado oriental e nenhuma instituição bancária para honrar os títulos de crédito. A 10.000 euros cada um, os 500 veículos totalizariam uma dívida e um risco de 5 milhões de euros. Mais uma vez, isso ultrapassava minhas prerrogativas e meu poder de delegação. Mas eu também sabia que a chegada destes carros novos em 250 municípios da antiga Alemanha comunista seria uma imagem forte, uma mão que o Oeste estendia ao Leste. Isso era absolutamente necessário. Decidi fazê-lo mesmo sem pedir autorização, e nosso diretor jurídico preparou um contrato de empréstimo cujos beneficiários se comprometiam em saldar o montante ao cabo de três meses. Todos os concessionários aceitaram. No dia “D”, a pista estava totalmente ocupada pelo desfile de carros. Todos foram pagos no vencimento. Todos, sem exceção. O evento foi marcado para o dia 19 de junho de 1990, a partir de 8h30. Faltavam duas semanas para a entrada em vigor da unificação monetária. Amparado por Lionel Bellina, que foi responsável pela organização deste evento incomum pelas suas proporções e pela simbologia que ele representava (no final das contas, participamos de forma pragmática da história da reunificação), insisti para que a direção geral viesse representar a Renault. Telefonei para Paul Percie du Sert, para apresentar a convenção a ele. Ele não estava disponível, devido a inúmeras reuniões importantes na matriz. Fiquei decepcionado, pois achava que o homem que tanto me incentivou a conquistar o Leste teria a intuição que este momento seria único e irreproduzível. Também desejei que fosse convidada a imprensa especializada da França, tanto da área de economia como automobilística. Seria fácil imaginar as manchetes que apareceriam depois: “Uma marca francesa parte à conquista do mercado alemão, antes mesmo de todos os seus concorrentes, mesmo nacionais”. Mas tive que amargar uma recusa politicamente correta: “Estamos nos preparando para visitar o Salão de Frankfurt, que acontece daqui a três meses”. Mas acabei conseguindo convencer Alain Dubois-Dumée, Diretor de Comunicação, que não seria possível ignorar este evento econômico, mas com uma dimensão política incontestável. Afirmei que, de qualquer forma, eu convidaria pessoalmente correspondentes da imprensa francesa na Alemanha. Este incidente não foi inócuo. Enquanto isso, fui a um coquetel de Philippe Rochot, correspondente da rádio Antenne 2 em Bonn. Ele estava fazendo uma festa de despedida, pois estava se mudando para Berlim e, ao sair, trocamos algumas palavras. Eu disse a ele que havíamos alugado o Estádio Olímpico de Berlim para uma grande convenção comercial, para marcar o lançamento de uma rede de 250 concessionárias do lado Oriental. “Será no dia 19 de junho”, acrescentei. “Mas atenção, é um evento comercial, puramente comercial”. Com seu olhar profundo, ele me interrompeu e perguntou: “Posso ir com uma equipe de filmagem?”. Fiquei confuso e, no final, disse “sim”, 57
sem mostrar nenhum entusiasmo. No dia seguinte, recebi um telefonema de Pierre Thivolet, o correspondente do canal TF1 que me pegou de surpresa, acusando-me de favorecer seu concorrente. Assim, também o convidei cordialmente: as três cadeias nacionais francesas estariam presentes no dia 19, às 14h e elas não se contentaram em fazer gravações para arquivo. A assessoria de imprensa da Renault me ligou para informar que eles finalmente organizariam uma operação a jato com aproximadamente quinze jornalistas da imprensa de negócios e de emissoras de rádio: Les Échos, La Tribune (com seu excelente representante na Alemanha), Europe 1, RTL, France Inter, Le Figaro, e talvez L’Expansion, e por aí vai. Toda a equipe da Renault Alemanha estava trabalhando duro. Como sempre, fiquei hospedado no Intercontinental, no final da Kurfüstendam, próximo ao zoológico, perto da Coluna da Vitória e do Portão de Brandemburgo, atrás da qual se estende Berlim Oriental. Tínhamos decidido fazer uma ampla lista de convidados. Para os novos concessionários, era praticamente entrada livre e quase todos vieram com suas famílias e os funcionários das empresas. Havíamos convidado os concessionários do lado Ocidental (alguns já estavam investindo do lado Oriental) e boa parte dos colaboradores da Renault Alemanha, além das empresas parceiras que trabalhavam conosco. Na primeira fileira estava uma representação da Embaixada da França, o que era certamente algo fora do protocolo. Cheguei na manhã do dia anterior, acompanhado de Luc Rosenzweig, do jornal Le Monde, que queria escrever uma matéria para publicá-la no dia seguinte. Ele já tinha o conteúdo, pois nos encontrávamos há meses. Ele escreveu meia página, com palavras que nos emocionaram bastante – tanto a mim como a meus colegas alemães. Naquela noite, recebi os jornalistas franceses no aeroporto de Berlim-Tegel. Eles estavam em um estado de grande euforia e curiosidade: Berlim, a reunificação e o lado oriental desconhecido eram como um ímã. Sem dúvida eles já tinham participado de um briefing no avião, portanto já fui direto ao ponto com eles, colocando-me à disposição para perguntas. Depois de passar no hotel, eu os encontraria no distrito de Grünewald, em um restaurante cercado de verde, localizando em uma chácara antiga. Lembro-me que o dia estava muito quente e se anunciava uma tempestade. Acomodados em uma grande mesa, a discussão se iniciou e ultrapassou o meio da noite. Não me lembro de ter nem tocado em qualquer prato da refeição servida: os questionamentos se sucederam em um ritmo infernal. Formatados pelos seus conhecimentos do mundo comercial em uma sociedade capitalista, os jornalistas faziam perguntas totalmente desalinhadas com as regras do jogo de uma economia centralizada pelo Estado. Primeira curiosidade: os critérios de seleção dos novos distribuidores e uma pergunta recorrente: “vocês analisaram o balanço e a demonstração dos resultados”? Não. Respondemos que isso nem mesmo existia. Tínhamos duas regras: até 2 de julho, cobrir todo o território da Alemanha Oriental e contar com o apoio da rede de cooperativas de reparação e manutenção automotiva já existente. A partir de então, teríamos três critérios: o ponto comercial, a qualidade técnica do titular da concessionária (Meister), e a intuição ou a confiança resultante das negociações. A resposta lhes pareceu irreal. Entretanto, era exatamente assim que havíamos feito. Quatro anos depois, eles ainda eram nossos concessionários, sendo que a maior parte estava envolvida na construção de novas instalações para seguir os padrões internacionais da Renault. Apenas dois foram à falência: eles tinham feito confusão entre faturamento e lucro. 58
O segundo questionamento era quantos carros pretendíamos vender. Ainda não sabíamos o que responder neste sentido. Estávamos apostando que o modelo chegaria a se posicionar no topo das vendas entre os carros mais desejados pelos clientes. Lembrei que, em 1989, o “sistema” de aquisição de um veículo (Trabant / Wartburg, ou até mesmo da marca Dacia, em pequenos volumes), ainda era totalmente administrativo, com cadastro em uma lista de espera (e negociação dos privilégios), que representava dez anos de produção das duas marcas da Alemanha Oriental (mesmo 45 anos após o fim da segunda guerra! Na França, estes prazos tinham praticamente desaparecido desde 1953-1954). Terceira curiosidade: como vocês já se posicionam em pé de guerra enquanto que seus concorrentes estão apenas preparando o desenvolvimento da rede? “Porque a Renault aposta na reunificação sob a forma de absorção da Alemanha Oriental pela República Federal”, respondi. Contei que nossas viagens e busca por futuros representantes não tinham nada de sigiloso. Muitas vezes, nos encontrávamos frente a frente com a Mazda ou Opel, que visitavam nossos pretendentes e tentavam fazer com que eles renunciassem aos pré-contratos já assinados, com argumentos financeiros tentadores e polpudos. Também comentei sobre meus contatos confraternais com a Peugeot e a Citroën, que haviam decidido “esperar para ver”. Eles tinham outras prioridades e, na época, o Presidente da Peugeot me disse “Estamos em pleno lançamento de nosso modelo topo de linha, o 605. Nossas forças estão mobilizadas”. Achei melhor nem fazê-lo mudar de ideia. A maior parte dos jornalistas nunca tinha ido a Berlim Oriental e um número ainda menor teve condições de percorrer o país. Poder passar pelo Checkpoint Charlie e espiar o outro lado do “Muro” exercia uma forte atração e, neste sentido, a Renault estava servindo de pretexto para que todos eles pudessem ver pessoalmente como era realmente a Alemanha Oriental. Tínhamos ainda uma bela história para contar, com suas peripécias, e muito a dizer sobre os homens que a haviam contado. Estávamos dando a eles uma história apaixonante à qual nenhum jornalista poderia resistir. Fiquei com eles até tarde e os acompanhei até o hotel. Eu já estava com a cabeça na convenção. Combinamos de nos encontrar bem cedo, a partir das 8 horas, no Estádio Olímpico de Berlim: para nossa grande surpresa, todos nossos convidados já estavam lá, com seus Trabant que liberavam a fumaça característica dos motores de dois tempos. Havíamos esquecido que a Alemanha Oriental tinha o hábito de começar bem cedo, em torno de 6h30, 7 horas! Tudo ocorreu como previsto, e a convenção foi coroada por uma bela tempestade que serviu de cereja do bolo no quesito tensão, sem contar o calor insuportável dentro da tenda. O conselheiro comercial da Embaixada da França estava coberto de suor, assim como eu. Houve três momentos importantes. Em primeiro lugar, os canais de televisão: as três cadeias de TV francesas fizeram suas gravações, pedindo para que eu finalizasse com uma breve entrevista de 15 a 30 segundos, o que já é muito. Os três jornalistas me disseram que as reportagens iriam ao ar no telejornal das 8 da noite. A direção geral da Renault (e talvez a diretoria de comunicação) me confidenciou depois que não tinha muita fé nisso. No bom sentido, é claro. Fizemos a entrega das chaves em torno de 15h. Foi um belo empurra-empurra, o que é surpreendente na Alemanha, onde tudo é organizado e disciplinado. Observamos este “desvio de conduta à moda latina” com prazer, pois, no fim das contas, ele representava o 59
envolvimento dos concessionários e o desejo de partir para o ataque do mercado e da venda propriamente dita. Finalmente, o desfile começou na pista Jesse Owens, aos pés da escadaria que leva à pira olímpica. A cena foi filmada. Lionel Bellina apertou a mão de cada um dos presentes, e eu fazia um comentário simpático com os condutores. Ninguém estava sorrindo, mas todos estavam radiantes. Foi um dos melhores momentos de minha carreira na área comercial. Mas era muito mais que isso: sem exagerar, reunimos uma nova comunidade e um conjunto de empresas que, vinte anos depois, ainda nos são fiéis. Havia muita emoção autêntica no ar e as buzinas comemoravam o evento. No dia seguinte, de volta ao meu escritório em Brühl, me senti ocioso e nostálgico, pensando que não tínhamos provado ou feito nada, a não ser a entrega de 500 veículos de demonstração emplacados, que não tinham sido pagos. A união monetária provocou filas de espera nos guichês dos bancos já nos primeiros dias de julho de 1990. Cada um tinha um saquinho com suas economias em espécie. Mas tudo aconteceu como previsto, criando-se um grande poder de compra. Para nós, uma das questões mais “políticas” consistia em definir o preço de venda para o cliente, sugerido aos novos concessionários. Havia duas correntes: uma a favor da definição de um preço mais baixo e, a outra, para que fosse aplicado, do lado oriental, o preço em vigor do lado ocidental. Adotei a segunda solução, não entendendo por que deveríamos fazer uma distinção entre as duas Alemanhas, que agora eram apenas uma. Ao final de julho, o preço foi oficializado e o mesmo aconteceu em todos os setores da economia, portanto a rede não poderia fazer diferente. Foi uma reunificação através da unificação, tal como havia sido planejada pelo Chanceler Kohl. Para o lançamento, tomou-se a decisão de organizar um grande evento de fim de semana em meados de setembro, com a duração de quatro dias. Tanto do lado oriental como ocidental. Já no mês de agosto, a carteira de pedidos era promissora. As vendas deveriam decolar com esta operação. Os concessionários do lado oriental estavam entrando em um terreno desconhecido nesta “grande estreia”. O procedimento foi bem explicado pelos consultores de vendas e pelo pessoal do Banco Renault e, em muitos casos, pelos “antigos” concessionários do lado ocidental, que haviam firmado parcerias com seus colegas do lado oriental. Desde maio estávamos aumentando nossos estoques em antecipação à parada das fábricas na França, por conta das férias de verão. Estávamos ansiosos para faturar os carros. Mas gerenciar o abastecimento é sempre uma ciência inexata. Havíamos produzido mais unidades do Super 5 de cinco portas e furgões Rapid e menos Renault 19. O mercado reagiu no sentido contrário. Peguei a estrada na quinta-feira com o diretor regional de Berlim, Robert Müller, e partimos para uma turnê geral: Leipzig, Dresden, Eisenach, Iena, Erfurt, Halle e Berlim, visitando todas as concessionárias. Para minha grande surpresa, todas tinham feito publicidade local e organizado promoções regadas a comidas e bebidas, dentre as quais destaco uma que me agradou bastante (não apenas pelos schnaps e toucinho com pimenta). O titular da concessionária (Meister) estava chateado porque não havia carros suficientes. Em sua sala, ele me mostrou orgulhosamente duas grandes pastas cheias de pedidos (nos trinques!). Vale dizer que ele tinha trabalhado bem, organizando churrascos com sorteios que davam direito a passeios de helicóptero. Adormecido há 45 anos, agora o tino comercial estava bem presente.
60
A maioria teve que abrir mais cedo, pois havia clientes que aguardavam desde 6h30 da manhã. As grandes filas pressagiavam excelentes vendas. À noite, dormi em Eisenach, em um antigo edifício da Stasi que havia sido transformado em pousada, pensando que a queda do Muro havia mesmo abalado o mundo. Mas eu estava tranquilo em relação ao futuro da Renault na Alemanha Oriental. Os pedidos se acumularam naqueles dias, e o pessoal da área comercial se surpreendeu. Quando fizemos as contas, na terça-feira de manhã, as proporções por modelo eram diferentes de nossas previsões: menos carros pequenos e muito mais Renault 19. Era necessário rever os pedidos de produção com urgência, uma manobra sempre complicada. O desbloqueio econômico havia sido regulamentado pela “reunificação monetária”, mas a estrutura política ainda não estava clara. Na primavera, as eleições tinham consagrado a vitória dos cristãos democratas, que estavam no comando do governo. Lothar de Maizière (de origem huguenote) havia substituído Hans Modrow, último premier comunista. A Embaixada da França em Bonn organizou uma viagem de industriais franceses no meio do ano, da qual participei. Entre os participantes, destaco o diretor geral da Elf e a diretora internacional da Suez, que investiria rapidamente nos Länder (estados) do leste. O jantar foi organizado no grande salão de recepções da chamada “Casa Vermelha”, como era conhecida a prefeitura de Berlim Oriental (toda revestida de tijolos à vista), presidido pelo Primeiro-Ministro. À mesa, eu estava rodeado por altos funcionários que se preocupavam abertamente com o próprio futuro. O sentimento geral era que um ciclo se fechava e um clima de nostalgia pairava em meio aos meus interlocutores. Entremeado de frases em francês, o bilhete enviado por Lothar de Maizière (bem mais tarde soubemos que ele era correspondente em off da Stasi), mostrava sua condição de legatário universal do que restaria do Estado ainda comandado por ele. No dia seguinte, a delegação foi recebida na Embaixada da França da República Democrática da Alemanha. Localizada em um bairro retirado, que reunia várias representações diplomáticas, sua arquitetura cúbica se parecia com a das outras chancelarias. Seria interessante falar com os diplomatas franceses lotados em Berlim Oriental. Quase um ano após a queda do muro, eles ainda conversavam sobre o futuro do país, e ainda tinham a opinião de que o país subsistiria. A embaixadora, uma respeitada especialista sobre o mundo germânico, fazia parte deste grupo. Assim como na Casa Vermelha, estávamos presenciando um mundo em ruínas. É verdade que a situação era complicada, pois a Alemanha não poderia se reunificar sozinha. Ela dependia do direito adquirido ao final da guerra pelas quatro potências da ocupação. Sabemos que George Bush havia dado seu apoio ao chanceler Kohl. Margaret Thatcher não conseguiu resistir por muito tempo. A França ficou reticente, mas depois consentiu. Moscou tinha a chave da porta. Joachim Bitterlich, o futuro conselheiro diplomático do Chanceler, me contou sobre o passeio que ele, Helmut Kohl e Mikhail Gorbachev fizeram às margens do Reno. Além da forma que deveria adquirir a reunificação, era necessário resolver um problema considerável: a presença do Exército Vermelho no território. Foi durante este tête-à-tête que se decidiu pelo desaparecimento da Alemanha Oriental e a retirada das tropas soviéticas. Haveria outras condições, principalmente econômicas e financeiras, tendo em vista as grandes dificuldades da Perestroika? Nenhuma pista me foi dada sobre isso. Mas dizem que sim... A reunificação foi concluída em 3 de outubro de 1990. Desde então, este é um feriado nacional, o Dia da Unidade Alemã (Tag der Deutschen Einheit).
61
O fim de ano estava próximo, com um resultado promissor apontando para mais de 140 mil carros vendidos, sendo aproximadamente 25 mil do lado oriental, ou seja, bem acima das previsões feitas em nossas reuniões noturnas no Hotel Metropol, com Christian Martin. A Renault voltava a ser a importadora número 1 na Alemanha. O novo ano-modelo nos faria bater recordes. Finalmente colheríamos os frutos do que havíamos plantado.
Legenda: PERSPECTIVAS: A cooperação franco-alemã. O homem da Deutsche-Renault Luc Alexandre-Ménard conseguiu fazer da montadora francesa o importador número um de carros do país. Arquivo do jornal francês Le Monde, disponível na internet, acessado em 07/10/2019 https://www.lemonde.fr/archives/article/1993/01/26/perspectives-la-cooperation-francoallemande-l-homme-de-deutsche-renault-luc-alexandre-menard-a-su-faire-du-constructeurfrancais-le-premier-importateur-de-voitures-du-pays_3925423_1819218.html
62
X Neu-Isenburg
Pode-se dizer que essa é uma cidade desconhecida – ou quase. Fica logo ao sul de Frankfurt e empresta parte de seu território ao aeroporto da cidade – o segundo maior da Europa – tendo sido fundada pelos huguenotes, que fugiram da França após a revogação do Édito de Nantes, em 1685. Ela deve seu nome ao Conde Johann V. von Isenburg, que os manteve sob sua proteção. O francês foi o idioma utilizado em seus templos até 1829. E foi apenas em 1911 que a construção de uma igreja católica foi autorizada. Estou comentando isso porque, após a guerra, foi construído um novo bairro do lado ocidental, Gravenbruch. Nele está localizado um hotel de luxo da rede Kempinski, onde se hospeda a nata do setor automobilístico a cada edição do Salão do Automóvel de Frankfurt. Lá, aproximadamente mil pessoas eram convidadas do Motor Press Club para bater papo com um copo em uma mão e um tira-gosto na outra. Em 1990, participamos bem mais motivados do que nos anos anteriores. Acompanhado do diretor da Renault responsável pela região Europa, nos acotovelando para conseguir nos mover, cruzamos com Carl Hahn, presidente do Conselho de Administração da Volkswagen, que Christian Martin conhecia bem. Após as apresentações de costume, ele me disse com seu francês impecável, sem sorrir: “Ah, então é você! Você vendeu mais modelos Renault do que a Volkswagen conseguiu fazer nos distritos de Berlim Oriental em agosto e setembro (e ele tinha razão); espero que você não continue assim. Acho até mesmo que será a última vez”. Aí sim, ele teve a elegância de sorrir, e isso soava como um cumprimento, que nos chegava direto ao coração. Além do coquetel, naquele estava previsto ano um jantar privado para uma centena de pessoas, e o Presidente da Renault foi o convidado de honra do Motor Press Club, um sinal indiscutível do prestígio que a marca havia recuperado junto aos nossos concorrentes alemães. No dia anterior, fui buscar Raymond Levy, logo que ele desceu do avião da Air France, e partimos imediatamente para Mainz, no hotel Hilton, onde ele costumava ficar. Ele estava preocupado, pois havia esquecido suas luvas no avião (um item pouco utilizado dentro de uma aeronave); mas elas foram encontradas. Ele também não quis ocupar uma suíte no hotel. Eu disse que ele poderia ficar com o meu quarto, mas informei que tínhamos acabado de fazer uma convenção da rede naquele hotel e que a suíte fazia parte do pacote. Ele ficou na suíte. Para quem o conhecia, estas pequenas preocupações dissimulavam sua concentração para a noite do dia seguinte. Os poderosos anfitriões – a associação de jornalistas da imprensa automobilística alemã – tinham escolhido uma temática inequívoca: “O automóvel do futuro e o meio ambiente”. Todo mundo conhecia o gosto dos alemães pelo meio ambiente e a resistência das montadoras francesas à instauração de normas ainda mais rigorosas. Uma mudança de paradigma era tão esperada neste sentido que boa parte das ideias que o Presidente da Renault pretendia defender já tinha sido comentadas em uma extensa matéria do jornal Der Spiegel, publicada no início da semana. Esta coincidência o irritou claramente, e eu tive que explicar a ele que, ao contrário das aparências, não era culpa nossa, pois não fazíamos parte do comitê editorial da revista. Ele relaxou e, após o jantar, pediu que eu fosse à sua suíte para traduzir esta matéria. Foi um momento agradável, e rapidamente percebi que ele “defenderia” seu discurso perante seus pares, e que se basearia na matéria do Spiegel, bastante focada na necessidade de despoluição.
63
Na noite seguinte, ele foi brilhante, demonstrando que a indústria automobilística europeia era prudente, inclusive a indústria alemã, que – com exceção da Opel – não seguia o exemplo da Renault, que já satisfazia as normas americanas. O orador acabou se tornando professor, e ele vibrou com isso. Ele foi aplaudido, mas não efusivamente. Seu discurso na direção oposta surpreendeu toda a plateia, e nossos concorrentes do outro lado do Reno não gostavam muito de receber lições. Por outro lado, este homem, a Renault e a indústria automobilística francesa ganharam um respeito considerável. O ano de 1991 começou com dificuldade. Toda a empresa tinha se ajustado para um volume e um faturamento específico. Quando o negócio vai mal, é preciso reduzir de tamanho, enfrentar a crise e, frequentemente, reestruturar. Mais tarde, eu mesmo passei por esta experiência passando a folha de pagamento de 6.000 para 1.750 pessoas na fábrica de Córdoba, na Argentina. Mas quando os negócios vão bem, ou até mesmo muito bem, e quando o crescimento chega até mesmo a ser brutal, a estrutura existente é ultrapassada, necessitando ser revista urgentemente. Não deixa de ser uma crise, mas, neste caso, positiva. Este ritmo se manteve firme durante seis meses, com impacto na logística. Antes de tudo, uma subsidiária comercial é uma unidade dedicada à distribuição. De repente, passamos de 6.000 para 20.000 veículos vendidos por mês. A informática entrou em pane e vasculhávamos a Europa à procura de caminhões para transportar os carros. Certa manhã, recebi um telefonema urgente do diretor da CAT (Companhia de Afretamento e Transporte) na Alemanha, uma subsidiária da Renault que se encarregava do fretamento do transporte. Estupefato, meu interlocutor me informou que, à noite, todo um trem carregado de veículos havia desaparecido. Ao mesmo tempo com raiva e achando graça da situação, disse a ele que um carro é visivelmente maior que uma colher e que, portanto, não poderia evaporar de uma hora para outra. Pedi a ele que me ligasse novamente quando se recompusesse. Uma hora depois, soubemos que o comboio havia sido redirecionado para Rostock, às margens do mar Báltico. As redes ferroviárias do lado ocidental e oriental ainda não haviam sido unificadas operacionalmente. Em Paris, tudo foi mobilizado para enviar mais caminhões-cegonha para a Alemanha. Infelizmente, os veículos disponíveis não poderiam ultrapassar as fronteiras da França sem uma licença internacional. Era preciso tempo para isso, além de ser novidade para muitos motoristas. Lembro-me de ter visto dois caminhões cheios de carros da Renault, estacionados durante todo um fim de semana quase em frente ao Memorial de Guerra Soviético, a menos de 300 metros do Portão de Brandemburgo. Em outra situação, fiquei cara a cara com um motorista quando fui visitar o novo concessionário de Frankfurt an der Oder, na fronteira com a Polônia. Brincalhão e feliz por estar falando com um conterrâneo, ele me contou o inferno sofrido pelos caminhoneiros: não havia mapas das estradas ou cidades e nem telefone e, muitas vezes, não havia sinalização nas pontes sobre as quais a carreta não podia passar. Já o concessionário local estava feliz, pois os carros dele estavam lá. Mas as coisas se complicaram em Berlim. Raymond Jahiel havia se mudado, deixando seu pequeno escritório, localizado em uma torre no edifício do Partido Comunista, para alugar uma área maior, mais a Leste, em um bairro de difícil acesso e não muito seguro. Lá se concentrava uma grande comunidade de coreanos do norte, que vieram morar na “República Irmã”, onde também circulavam abertamente vários pacotes de cigarros de contrabando. Cumprimentei a nova equipe da Diretoria Regional, principalmente os recém-contratados. A atmosfera se assemelhava a uma colmeia, e os corredores estavam lotados de malotes contendo pedidos de produção enviados pela rede de concessionárias. Era preciso copiar tudo 64
à mão e transferir os arquivos fisicamente para o lado oriental, devido à falta de linhas telefônicas, o que teriam permitido uma comunicação com nosso servidor, localizado na França. Nesse ritmo, estávamos fadados a uma pane, com a consequente perda de vendas. Solicitamos à Deutsche Telekom um cronograma de ligação, e eles nos informaram que isso sem dúvida levaria anos. Questionei nossos próprios especialistas, que só viam uma solução possível: superar uma barreira tecnológica de primeira ordem, conectando todas as concessionárias do Leste à plataforma de Boulogne-Billancourt via satélite. Imagine o choque cultural. Isso já seria inovador na França, mas, no Leste, onde as oficinas começavam a se acostumar a usar o telefone sem medo dos antigos grampos, isso soaria como uma história de ficção científica. Apesar de tudo, o pessoal da informática preparou um dossiê de investimento. O preço era alto, mas foi aprovado graças ao potente apoio do então Diretor de Informática, o antigo Diretor Geral de Telecomunicações. Ele conhecia bem o seu métier, e foi ele que, certa noite, me explicou como isso iria funcionar. Foram necessários seis meses para instalar antenas (relativamente imponentes) em todas as concessionárias. Estas passaram quase instantaneamente da idade da pedra ao século XXI, da máquina de escrever ao computador em rede. Todas as terças-feiras, elas transmitiam à matriz, pelo ar, suas necessidades de produto. Isso aconteceu bem antes da era da internet e, graças a este sistema de telecomunicações, virou motivo de chacota entre os clientes (eles perguntavam, brincando, se nossas concessionárias tinham começado a trabalhar para a Stasi). Foram mais de 80.000 carros entregues do lado oriental em 1991, um número tão importante que até nos levou a abrir um centro de distribuição, na estrada para Varsóvia. A boa maré de pedidos de compra não parava de crescer desde outubro do ano anterior. Isso teve uma repercussão no mercado de seminovos, com pátios inteiros esvaziando na Europa Ocidental, principalmente na Holanda. A impaciência dos novos clientes provocou um fluxo migratório de carros do Oeste para o Leste. Aqueles que tinham encomendando um veículo novo estavam igualmente apressados, e entenderam que o sistema informático associado à nossas conexões via satélite permitiam seguir em tempo real o andamento do pedido. Recebíamos visitas de alguns dele com frequência, pois eles queriam verificar a situação “pessoalmente”. Lembro-me de um jovem concessionário, localizado ao sul de Berlim, uma área de mangue um tanto arenosa e recoberta por pinheiros, que tanto agrada aos românticos alemães. Eu o visitava com frequência, pois ele havia sido um dos primeiros a assinar o contrato conosco. Ele me contou que o anúncio da chegada de um caminhão no município se espalhava como penas ao vento. Alguns clientes vinham correndo à concessionária, procuravam o produto que tinham encomendado, subiam no caminhão-cegonha e se apoderavam do veículo Renault que aguardavam ansiosamente, sem até mesmo esperar que ele fosse descarregado. Uma lenda igualmente bela e inacreditável... Tivemos algumas dificuldades com as peças de reposição, e o armazém central se mostrou rapidamente muito pequeno. Sabíamos que o volume diminuiria conforme passassem os anos. O mercado global registrou três picos em 1990, 1991 e 1992, com um apogeu de mais de 4 milhões de peças. Nossos especialistas perguntaram se não valeria a pena expandir o armazém central e, de quebra, um grande investimento que seria talvez desproporcional quando a demanda atingisse a velocidade de cruzeiro. É comum dizerem que a área comercial gasta muito. Minha experiência é oposta a esse preconceito. Os engenheiros e técnicos são aqueles que incentivam os investimentos, principalmente no projeto de novos produtos e dimensionamento dos meios de produção. Já a 65
área financeira sempre quer freá-los, mas normalmente não está suficientemente armada para isso. Dez anos mais tarde, quando estava no Brasil como responsável pelas operações da América do Sul, meu irmão Xavier, arquiteto, veio me visitar. Com muito orgulho, levei-o para visitar a fábrica de montagem Ayrton Senna, em Curitiba. Observando a superestrutura, ele me disse: “vocês estão podendo!”. Quando construímos uma segunda unidade destinada tanto aos veículos utilitários como à Nissan, assumimos outra postura. O teto se resumia a uma cobertura simples, apelidada de “guarda-chuva”. No comando da Dacia, na Romênia, integrei esta preocupação de gastar apenas o necessário. A ideia de expandir o armazém central de Brühl não resistiu muito à análise, pois as necessidades eram imediatas e tal construção levaria pelo menos um ano. Os especialistas tinham inteligência metódica e muitos recursos. Eles abriram mão do concreto cimento e pensaram em uma forma de movimentar um volume três vezes maior, mantendo a mesma área. A resposta estava na otimização da rotação do estoque de peças (havia 75 mil referências em estoque). A cadeia logística foi modificada: quatro caminhões por dia a partir de Flins, na França. Este número podia ser aumentado esporadicamente para dez, e até mesmo doze, para as peças mais procuradas, sempre mantendo a média diária de quatro. Foi uma bela lição de gestão da produtividade. Durante todo este período, eu visitava frequentemente a antiga matriz da Renault em Boulogne-Billancourt, localizada no cais do Point du Jour, onde as reuniões da diretoria aconteciam a cada quatro meses. As mais importantes eram presididas por Raymond Levy. A cada vez, ele me chamava de lado e para me fazer uma pergunta que acabava se tornando uma sequência em três etapas. Sempre de maneira abrupta, mas com uma expressão no rosto que acabava por suavizar seu questionamento: “Então, quantos concessionários novos você recrutou? Uns vinte, quem sabe, uns vinte e dois (com um tom irônico)? Não é o suficiente! Bom retorno.” Essa era apenas a primeira tacada. Em um encontro posterior, quatro meses mais tarde, ele criou uma variação: “E aí, quantos carros você vendeu? Uns 20 mil?” Ele me observava com um grande sorriso no rosto: “Mas não é suficiente!” No final de 1991, quando informei que iríamos vender por volta de 80.000 unidades, ele se voltou para mim, com um ar preocupado, e me perguntou: “e eles vão pagar?” Eu não sabia se ele estava falando dos clientes ou dos concessionários. Respondi: “Sim, e eles respeitam as datas de vencimento. Muito mais do que os clientes do lado ocidental.” Tanto uns, como os outros, a propósito. Após os eventos conturbados de 1989 e de 1990, a vida da subsidiária seguia seu rumo, ritmada pelas reuniões quadrimestrais da rede, marca registrada do know-how da Renault Alemanha. Eu participava de todas, pois elas serviam para explicar o plano de ação, responder as perguntas, determinar os objetivos e detalhar os recursos para distribuição dos produtos. Quando eles voltavam para suas cidades, os concessionários faziam o trabalho de disseminadores das estratégias. Existem dias sem clientes, assim como também existem momentos eufóricos como aqueles que acabávamos de vivenciar. Estas reuniões de pelo menos três horas eram essenciais para lutar contra a depressão dos vendedores e lembrar a todos sobre o rumo a ser seguido. Para a região de Frankfurt, a reunião foi realizada no início de janeiro de 1991 no hotel Sheraton, localizado perto do aeroporto, e aconteceu de forma tranquila. Havíamos fixado objetivos mais altos, mais de 200.000 carros (sendo que em 1985 só vendíamos 77.000). Estavam todos concentrados. Na época, não havia celulares e muito menos e-mail. Uma 66
recepcionista veio me informar que havia uma ligação de Paris para mim, na cabine 4. Apressei-me para falar com meu superior direto, Christian Martin, que me aguardava do outro lado da linha. Ele anunciou sem rodeios que eu tinha sido escolhido como “Homem do Ano” por um grupo de vinte jornalistas da imprensa automotiva francesa. Eu conhecia muito bem esta premiação, que era bastante concorrida no setor. A premiação era feita pela publicação francesa Le Journal de l’Automobile e eu achava que ela dizia respeito apenas ao mercado francês. Fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo. Era uma espécie de materialização do reconhecimento dos “conquistadores” da Alemanha Oriental. Pensei que o mercado alemão era incomparável para uma marca industrial. Os jornalistas não acreditavam que uma montadora francesa poderia se tornar número 4 do mercado da antiga Alemanha Oriental. Somos em geral um povo cético. O prêmio foi entregue em um clube de executivos, o Cercle de l’Union Interalliée, na presença de toda a elite da indústria automobilística francesa e em meio a uma atmosfera de alegre desordem, com conversas que seguiam para todos os rumos. Foi difícil pedir silêncio quando Raymond Levy, e depois eu mesmo, pedimos a palavra. Na Alemanha, tamanha algazarra seria impensável. Eu já estava sob a influência do meu olhar mais crítico. Ao discursar logo depois do presidente – que se derreteu em elogios –, fiz apenas três comentários: o que a Renault havia alcançado na Alemanha era resultado da qualidade de nossos produtos, o comprometimento da rede e, principalmente, tudo o que tínhamos criado no lado oriental, além de um carro excepcional, que causou uma verdadeira ruptura: o Renault 19. Isso não era um acaso, concluí. Qualquer indústria do nosso país pode fazer sucesso na Alemanha. Saí rapidamente para jantar com minha esposa e os meus pais no restaurante Le Récamier, perto da estação Sèvres-Babylone do metrô. Dediquei este prêmio a eles. Até os 9 anos, eu vivia na oficina do meu pai e do meu avô, que empregava aproximadamente 80 pessoas. Meus dois irmãos e eu conhecíamos os mecânicos, pois morávamos em cima da oficina. Quando éramos pequenos, no domingo, íamos frequentemente às cidades vizinhas, que organizavam feirões de vendas: o 4CV, o Dauphine (Gordini) e até tratores faziam parte da festa. À noite, ao voltar da escola na época do ensino fundamental, ficávamos frequentemente sentados na escada que dava para o escritório da minha mãe, aguardando que ela terminasse de fazer os registros contábeis e a assinatura das letras de câmbio. Seria impossível não ser contaminado por esse vírus. Minha ida para a pensão de Vannes me distanciou daquele mundo e eu voltava para casa, quando muito, uma vez por mês. Mas eu já havia sido contaminado pelo vírus da indústria automobilística e devorava as publicações da imprensa especializada. Não estava previsto que um de nós assumisse as duas concessionárias, nem a de Châteaubriant e nem a de Redon. O meu pai – que por muitos anos foi presidente da associação dos concessionários da Renault – fez com que cada um seguisse seu próprio caminho, pois trabalhar com a distribuição de veículos é bastante estressante. Foi assim que fui parar na Escola Nacional de Administração (ENA). Trabalhando no Tribunal de Contas, que foi minha escolha quando saí da faculdade, ele me contou que havia passado o negócio dele adiante, quando chegou aos 60 anos, exatamente como disse que o faria. Mas o prazer tanto de vender, fechar pedidos e estar sempre em busca da melhor performance comercial, como de se dar bem com os mecânicos da oficina, já tinha sido herdado por mim desde a infância. Ironicamente, a história me levou para uma montadora, do outro lado do espelho e, mesmo nos piores momentos (que existiram, principalmente na França e na Argentina), estive sempre do lado da rede e de seus problemas, que não foram poucos. 67
O fim do ano foi coroado de sucessos. O Renault 19 consolidou sua imagem com o lançamento da versão conversível preparada pela Karmann, na Alemanha. Antes de fechar o exercício fiscal – ainda com 200.000 unidades como objetivo – dois eventos importantes nos colocaram de volta à efervescência do momento. Primeiro, o Salão do Automóvel de Frankfurt, que ainda não era imenso como hoje. O estande da Renault ficava bem ao lado do da Mercedes, que era colossal. Mas não estávamos muito atrás deles e nos gabávamos dos sucessos comerciais obtidos no mercado, já nos preparando para o futuro. Foi assim que decidimos apresentar o Clio ao público. O Presidente Levy havia sido convidado e teve uma programação completa, participando em várias mesas-redondas com seus colegas alemães. De minha parte, montei “uma emboscada”, à qual eu fazia questão de realizar desde minha chegada à Alemanha: fazer com que o Presidente da Renault falasse na assembleia geral dos concessionários, que (por acaso) aconteceria a 100 km de NeuIsenburg, na belíssima cidade arcebispal de Würzburg. A última ocasião deste tipo não havia terminado bem, pois a fala do Presidente da Renault foi frequentemente interrompida e vaiada, portanto ninguém gostaria de repetir esta experiência. Eu sabia que não estava me arriscando: os concessionários conheciam o comprometimento de Raymond Levy para a recuperação da marca e seu envolvimento em favor da Alemanha. De helicóptero, rapidamente chegamos ao Centro de Eventos de Würzburg, onde o Presidente recebeu a aclamação que merecia. Foi uma oportunidade para lembrar que, quatro anos antes, eu havia sido orientado para diminuir o número de concessionários para 400 – eles eram quase 750 neste evento –, e triplicaríamos o volume de veículos vendidos até o fim do ano. Com esta situação, concretizei um de meus desejos secretos e apaguei quinze anos de desconfiança, e até mesmo de desamor. O ano poderia terminar. A colheita havia sido abundante. A reputação da Renault havia atingido seu ápice, chegamos a mais de 200.000 emplacamentos, o Renault 19 estava em primeiro lugar entre os veículos importados e estava na lista dos 10 carros mais vendidos no mercado alemão. A rede estava obtendo lucros expressivos e investia massivamente no lado oriental, em novas instalações. Finalmente, apresentamos um resultado financeiro consolidado positivo. Além disso, a alta administração da empresa havia sido homenageada no Salão do Automóvel de Frankfurt. Havia também outra satisfação à qual eu estava ligado, já que não tinha esquecido meu passado no serviço público. Eu havia sido eleito presidente dos conselheiros do comércio exterior da França, seção Alemanha, uma das mais importantes depois da dos Estados Unidos. O “clube” se reunia mensalmente e o Embaixador Serge Boidevaix participava de todas elas. Conversávamos sobre o desequilíbrio da balança comercial entre a França e a Alemanha e o reequilíbrio de competitividade devido à frequente desvalorização da moeda (quatro em sete anos durante minha estada no País). Essa era a “técnica” usada para anular as diferenças de inflação entre os dois países. No primeiro encontro dos conselheiros, no início de 1991, pela primeira vez foi registrada uma balança comercial positiva do segmento automobilístico, um desempenho do qual tínhamos muito orgulho, sem dúvida mais que os outros. Para nós, aquele foi o melhor ano. Mas já era possível ouvir o ruído preocupante dos tanques no Kuwait.
68
XI Editora Springer de Berlim
Na Berlim transformada em “ilha terrestre” pelo regime comunista de Walter Ulbricht, havia um edifício mítico, pertencente ao grupo editorial Axel Springer. Junto ao Muro, perto do Checkpoint Charlie, ele havia sido construído para ser visivelmente o símbolo da liberdade de imprensa. Na primeira vez em que estive em Berlim, em 1986, estive lá com Georg-Heinz Hommen, que me levou para almoçar com seu colega do comitê executivo da Springer. A visão do lado oriental era fascinante. Podia-se ver a avenida Unter den Linden e a Ópera, além da Alexander Platz, a praça onde os nazistas haviam organizado eventos grandiosos para queimar obras, em 1936. Mais adiante, o Palácio do Governo havia conservado apenas o Pórtico de Entrada da residência da família Hohenzollern (cheio de amianto, este local de poder – e que poder! – foi demolido após a reunificação). Eu não podia desgrudar os olhos do espetáculo que me era oferecido: pouco trânsito, muita neblina, a impressão de isolamento e solidão... Era a visão de outro mundo, orgulhosa e implacável, mas já debilitada. Inconscientemente, foi talvez nesse momento que imaginei que, um dia, estes dois povos, separados por razões políticas, acabariam por voltar a se unir. Cinco anos mais tarde, voltei no último andar da Springer, onde as paredes revestidas de lambri de aspecto pesado e acolhedor se opunham ao edifício de vidro visto do lado de fora. Neste local havia sido comemorado o lançamento do “foguete” comercial da Renault Alemanha, o Clio I. Haveria um terceiro, inesperado, mas que faria um sucesso fenomenal no ano seguinte. A preparação da campanha publicitária alemã do Clio foi muito fácil. A Renault trabalhou seu lado de excelência e o carro exibia todo o seu savoir-faire em modelos de entrada. Para comprovar isso, o slogan criado na França dizia: “ele tem tudo de um carro grande”. Ele herdava a plataforma do Renault 19, com o qual compartilhava o mesmo processo de montagem da carroceria. Era ao mesmo tempo pequeno e grande, elegante e robusto. O diálogo com a montadora foi bastante fluido e chegamos a um acordo sem maiores problemas sobre a gama de modelos, motorizações, preços (!) e volumes. Sem dúvida, a pequena equipe de marketing da Renault Alemanha e seu diretor alemão tinham conquistado o respeito merecido. O Comitê de Direção da fábrica de Flins me convidou para ver os primeiros protótipos saírem da linha de produção. Esta foi mais uma oportunidade para explicar como o cliente alemão reagiria, mas o que havíamos visto do veículo era bastante encorajador. Mas espantosa e inesperada mesmo foi a reação da imprensa. Em um segmento pouco explorado pelas montadoras alemãs, o Clio aparecia como verdadeira novidade e as matérias o elogiaram bastante. O carro venceu uma série de testes comparativos, muito importantes para estimular o desejo de compra. A revista mais importante, completa e pertinente – Auto Motor und Sport – havia sido muito severa conosco no passado. Em um longo teste comparativo, o Clio chegou ao mais alto degrau do pódio. Só não concordamos a respeito da publicidade internacional, que não era nosso objetivo. A diretoria comercial nos deixou livres e a agência de publicidade de Frankfurt (Publicis) criou um projeto da melhor qualidade, onde se vê o Clio no Paraíso Terrestre, além de Adão e Eva 69
nus, que são tentados pela serpente a experimentar o carro. A serpente foi inserida nas imagens e no filme como um pequeno personagem de desenho animado. Tivemos discussões acirradas sobre o tema escolhido, pois ele se referia à Bíblia e apresentava o produto como um objeto de sedução (Verführung). Entretanto, no inconsciente coletivo, a serpente não tem a reputação de possuir poder de atração. Em um país em sua maioria protestante e católico, estaríamos adentrando em areia movediça. Multiplicamos os testes de aceitação e, ao final, concordamos com a ideia, com a condição de que a serpente fosse muito bem desenhada a ponto de se tornar adorável. O filme foi produzido em Londres e as imagens estavam espetaculares. A pequena serpente ficou tão simpática que acabou virando tema de chaveiros – que foram vendidos às dezenas de milhares de unidades. A imprensa regularmente premia o melhor produto, empresa ou marca. Na Alemanha, o prêmio mais prestigioso da indústria automobilística é o do grupo Springer, cuja solenidade de entrega acontece na matriz do grupo, em Berlim. O prêmio leva o nome sugestivo de “Volante de Ouro” (Das Goldene Lenkrad). Há muito tempo, a Renault sofria uma abstinência em relação à premiação – o Renault 16 havia sido o último modelo a receber este prêmio. Tanto em Brühl como na matriz da empresa, em Boulogne-Billancourt, estávamos muito esperançosos. O Clio fazia parte dos indicados para o ano de 1991. E ele venceu! Anteriormente, ele havia sido eleito Carro do Ano por um júri de jornalistas internacionais. Bastante concorrido, o troféu não tinha tanta repercussão na Alemanha como o “Volante de Ouro”. O Presidente Levy decidiu vir pessoalmente a Berlim, tendo organizado um programa bem carregado: a cerimônia havia sido marcada para as 18h30, mas o Clio havia se classificado em quarto lugar. Entretanto, ele ainda iria para a Suécia, para encontrar o Rei durante um jantar, pois estávamos em plena negociação para finalizar a aliança Renault-Volvo. Infringindo uma regra que ele mesmo havia estabelecido, o Presidente viajou de avião executivo. Fui buscá-lo no centro da cidade, no aeroporto de Berlim-Tempelhof, que foi desativado. Sua arquitetura em arco é típica do estilo do Terceiro Reich, mas o que pouco se sabe é que, sob o terminal, havia vários andares no subsolo, que serviram de oficina de montagem e reparação do fabricante de aviões Messerschmitt. Tempelhof também foi o local onde os aviões americanos aterrissaram durante o cerco da cidade, decretado por Stalin, em 1948. O avião chegou bem adiantado. Isso não era o mais importante, pois era necessário fazer de tudo para partir o mais rápido possível de forma a honrar o encontro na Suécia. Sob este pretexto, solicitamos uma alteração na programação da cerimônia, para que o Clio recebesse o prêmio antes. Na Alemanha este tipo de tentativa era fadado ao fracasso, pois não se altera um programa para ficar com a ilusão de se ter domínio sobre o tempo. Por isso, tive que explicar ao meu Presidente que seríamos anunciados, como previsto, em quarto lugar. Para acalmar o seu nervosismo, sugeri que aguardássemos a hora da cerimônia dando uma volta pela parte oriental de Berlim, que ele não conhecia. Mostrei a ele a concessionária que havíamos comprado por 30 milhões de marcos alemães, mediante uma “simples” autorização dele por telefone. Passamos pelo Checkpoint Charlie, onde os VoPos (como era conhecida a “Polícia Popular Alemã", oficialmente Deutsche Volkspolizei, DV ou apenas Volkspolizei) foram substituídos pelos vendilhões do templo. Havia lojinhas de todo tipo e por toda a parte, oferecendo quinquilharias do Exército Vermelho e do Exército Popular Alemão (NVA, Nationale Volksarmee). O Presidente Levy deu um sinal para Alain Schoenborn parar o carro. 70
Ele desceu, me pegou pelo braço e foi comprar dois gorros ushanka ornados com a estrela do Partido. Ele me garantiu que seria para seu filho, que fazia coleção. A cerimônia, tão importante para a Renault, ocorreu dentro do previsto. A entrega do nosso prêmio foi bastante aplaudida, mas o tempo não havia parado e sendo a pontualidade imprescindível para encontrar o Rei, o Presidente estava naturalmente ansioso. Mesmo assim, ele fez questão de pegar o troféu e o enorme quadro onde aparecia o Clio, antes de sair de mansinho e sumir no Renault 25, rumo a Berlim-Tempelhof. Ele teve apenas o tempo de me dizer: “Vou mostrar o ‘Volante de Ouro’ ao Rei”! Não poderia haver uma prova melhor de nossa expertise do que uma distinção recebida da Alemanha. Em janeiro de 1991, o Clio passou pela sua prova de fogo. O lançamento aconteceu durante quatro dias, que passei entre Hannover e a Alta Saxônia, no Leste. A Alemanha estava em uma bolha. A Guerra do Golfo havia estourado. O exército da França participava da operação, mas os alemães não se sentiam parte disso nem como cidadãos e nem como país. Eles lotaram as lojas e tivemos recordes de pedidos fechados. O Clio se tornou a grande estrela do dia, apesar de não termos previsto que nosso segundo diferencial seria tão poderoso. Naquele fim de semana, dei uma esticada até Wolfsburg, onde fica a matriz da Volkswagen, a alguns quilômetros da antiga fronteira. Ali tínhamos um concessionário modesto. E como lutar contra um gigante que, sozinho, conseguia atingir 95% dos emplacamentos na cidade? Apesar de tudo isso, a Renault-Asterix (assim era chamada a concessionária!) era o importador número 1 na cidade, tendo atingido 1% de participação de mercado. Prometi estar presente na inauguração de sua nova concessionária, construída do lado oriental. Como sempre, a decoração, os prédios modestos e a pobreza aparente da cidadezinha ainda faziam um terrível contraste com o lado ocidental, assim como a nova concessionária Renault, toda iluminada, como se fosse uma ilha de prosperidade em um entorno cinza e insípido. Quando retornei, acabei constatando que, mais uma vez, tínhamos subestimado nosso sucesso. Havíamos previsto vendas anuais de 40.000 unidades do Clio no primeiro ano. Mas só em janeiro fizemos 10.000 pedidos. Precisávamos conseguir mais carros o mais rápido possível, o que era quase impossível, pois todos os países da Europa estavam, ao mesmo tempo, em fase de lançamento de produto. Todos os meses, tínhamos uma conferência de distribuição da produção, uma espécie de alocação, onde se tentava dividir as demandas da melhor forma possível, adaptando-as aos resultados registrados. Esse sistema não funcionava muito bem, pois frequentemente tentava-se forçar a alocação de veículos difíceis de vender, em vez de adaptar a oferta àqueles que estavam fazendo sucesso. Nos 28 anos em que trabalhei na Renault, nem sempre encontrei situações ideais, para que a oferta e a demanda fossem equilibradas. Podemos contar nos dedos de uma única mão o número de vezes em que isso aconteceu. Em 27 de janeiro de 1991, Hans Emil Beutler, responsável pela distribuição, veio falar comigo por volta das 10 horas. Ele estava falando por telefone com nosso representante na famosa reunião de distribuição da produção. Ele havia acabado de ser informado que, devido à Guerra do Golfo, as estimativas do mercado europeu eram bem piores do que o estimado. E informou que o pátio da fábrica tinha vários milhares de Clio. “Posso pegar uns 6.000, 8.000 ou 10.000, conforme nossas novas estimativas de vendas”. Hesitei por um longo tempo (5 min.), e decidimos ficar com os 10.000. Isso significaria que pretendíamos vender 60.000 unidades naquele ano, em vez das 40.000 previstas no orçamento. Esta previsão se justificaria mais
71
tarde, e o Clio chegou ao nível do Renault 19 na lista dos dez modelos mais vendidos da Renault. Em tal contexto, as equipes se tornaram confiantes e bem mais tranquilas. Apesar de dominado naquela época e ainda hoje pela Renault em toda a Europa, éramos medíocres no mercado de veículos utilitários. O principal segmento – furgões – era dominado pela Volkswagen e a Mercedes e não tínhamos nenhum produto moderno para atendê-lo. Por isso, nos contentávamos com o segmento de nicho, ocupado pelas furgonetas, no qual apenas a Fiat era realmente um concorrente para nós. Entre as montadoras alemãs, com carga útil equivalente, os modelos disponíveis eram bem mais caros. É necessário dizer que tínhamos muita dificuldade para vender para os órgãos do governo ou empresas ligadas ao governo. Nunca vi um carro de polícia de marca francesa, e as frotas dos Länder (os estados, na Alemanha) ou ministérios eram rigorosamente formadas por marcas alemãs, sem que houvesse – pelo menos ao que parecia – qualquer regra expressa que fizesse menção a uma adjudicação aberta da Comunidade Europeia. Em várias situações, a França, em não sabe defender tão bem sua indústria nacional. Ela era nitidamente inocente nesses mercados que ainda estavam por ser conquistados, pois não era conveniente partir para o ataque sem uma preparação minuciosa e sem um departamento dedicado, com especialistas reconhecidos. Em meados de 1991, resolvi investir para responder a uma licitação de peso lançada pela Deutsche Telekom, para a aquisição de 12.000 furgonetas, ou um contrato de 120 milhões de marcos alemães, sem contar o efeito em cascata em termos de peças de reposição e serviços de manutenção. “Seria prudente fazer isso?”, questionaram-me de forma circunspecta. “E quais seriam nossas chances? Quase nenhuma!” Concordei. “Vamos trabalhar para o Rei da Prússia”, retruquei ironicamente. “Mas poderíamos fazer uma pressão inesperada sobre os outros participantes da licitação”. Foi assim que entramos na batalha, conscientes que seria uma verdadeira corrida de obstáculos. Em primeiríssimo lugar, tínhamos consciência que seria necessário adaptar nosso produto à demanda. Deveríamos conversar com os representantes sindicais sobre o posto de condução. Junto com os engenheiros da Deutsche Telekom, trabalhamos na instalação de uma pequena oficina na traseira. Enfim, seria necessário – e isso era o mais simples – definir a cor e os revestimentos para que o veículo estivesse totalmente de acordo com o que o cliente desejava. No total, foram necessários 18 meses de trabalho, e o entendimento com a Divisão de Veículos Utilitários da Renault foi simplificado graças à sua grande experiência na gestão de frotas de empresas. O relacionamento com a Deutsche Telekom era novo e eles contavam com nossa seriedade, respeito aos prazos e atendimento às especificações exigidas pelos usuários em potencial. Ganhamos a primeira batalha, e fomos selecionados para participar da segunda fase, que dizia respeito ao preço. O dossiê não tinha nada de especial, pois não estaríamos ganhando uma margem, com exceção do fato que este mercado era marginal e seria acrescentado como bônus à produção normal. Neste sentido, não estaríamos incluindo os custos fixos, e nos contentamos em incluir apenas o ‘custo marginal’, o que nos permitiria dar um desconto de 30% nos preços. “Quais são nossas chances de sermos escolhidos?”, perguntei. “Elas são quase nulas”, disseramme. “E nossa oferta vai desbancar nossos concorrentes, que precisarão fazer um esforço ainda maior”, alertei o diretor financeiro da Renault para a Europa, o qual não fez objeção alguma ou fez de conta que não tinha objeções.
72
Estávamos viajando para o México, em companhia de nossos melhores concessionários do ano e, durante um jantar, Udo Jordan recebeu um telex decisivo: havíamos vencido a concorrência! Os concessionários fizeram um “Hurra!” e me deixaram estupefato. Mas ainda teríamos que obter a aprovação da controladoria, na França, o que era pouco provável, ou do presidente, por telefone. Alguns dias mais tarde, o diretor para a Região Europa me informou, como eu desconfiava, que a controladoria havia rejeitado a concorrência (era possível fazer uma retratação da proposta junto ao cliente). Expressei minha grande decepção e perguntei se não seria prudente falar rapidamente com o Presidente, destacando principalmente o efeito da divulgação da marca Renault em todas as cidadezinhas da Alemanha. Indiquei que tínhamos uma semana para iniciar as negociações que permitiriam finalizar a concorrência. Não sei como Christian Martin organizou sua defesa. Mas tudo indicava que ela foi convincente. Poderíamos confirmar e registrar 12.000 pedidos em nossa carteira de pedidos. No Bundestag, o Parlamento Alemão, um deputado ficou mudo ao saber que uma empresa, que ainda por cima era estatal, teve a coragem de comprar produtos de fora da Alemanha, dirigindo-nos palavras desagradáveis. Mas ficou por isso mesmo e, desde então, a Renault faz parte da frota da Deutsche Telekom. Assim, tínhamos o vento em popa. A matriz impunha que utilizássemos este trunfo para promover os modelos da gama que faziam menos sucesso. Nos negócios, é raro que o sucesso de uma linha de produto tenha efeito sobre aqueles que não vendem bem, e o impulso adicional que podemos dar a eles se mostra quase sempre inútil e dispendioso. Por isso, decidi concentrar a artilharia comercial nos quatro modelos de sucesso da Renault, o Renault 19, o Clio, o Rapid / Express e o Espace. Tínhamos o vento em popa para estes quatro modelos e, em 1991, Christian Grupe, Udo Jordan e eu pedimos para toda a empresa e a rede de concessionárias “içar o spi”, uma expressão que eu gostava de utilizar, relacionada ao mundo dos barcos a vela. O Renault 19 conquistou números recorde, a ponto de a fábrica de Douai trabalhar 2 a 3 dias de um total semanal de 6 para a subsidiária alemã. Aproximadamente 100.000 carros foram emplacados naquele ano, o mesmo volume que na França, onde as vendas do modelo não eram tão convincentes. Fomos positivamente surpreendidos ao ver, em uma revista divulgada na França pela Renault, uma propaganda que colocava em destaque jogadores de petanca (bocha) na praça de uma cidade na região da Provença, onde se via um Renault 19 com placa da Alemanha. Um dos jogadores apontava para o carro, dizendo: “Esses modelos estrangeiros são bacanas!”. Assim, o Renault 19 se tornou símbolo da qualidade alemã, mas ‘made in France’. Com um mercado batendo recordes (mais de 4 milhões de carros de passeio contra 2 milhões na França), a Renault emplacou 250 mil unidades, quase 3,5 vezes mais do que em 1985. Éramos a 5ª marca do mercado, com até 7% de penetração em alguns meses, logo atrás da Ford da Alemanha. Maurice Lévy, presidente da Publicis, e Raymond Levy decidiram explorar este sucesso com uma campanha institucional sobre a marca. Na área de publicidade, há uma hierarquia entre as campanhas. As institucionais são as mais nobres, em oposição às promocionais. Mas estas são injustamente desprezadas, já que atingem diretamente o cliente. O resultado ultrapassou todas as expectativas. A propaganda teve um slogan inusitado: “A Renault vende na Alemanha o dobro do que a Volkswagen vende na França”. Isso era verdade em um valor absoluto, mas não comparando os mercados em termos de tamanho. 73
A Volkswagen França, que entendia de porcentagens, se irritou e abriu um processo. Perguntei a Raymond Levy se ele se preocupava com isso. “De forma alguma. É verdade que podemos perder, mas esse alarde todo acaba sendo uma propaganda gratuita para nós”. Essa foi boa... A Volkswagen saiu vencedora do processo nos tribunais, mas não perante a opinião pública. Este exemplo, assim como a propaganda sobre os “carros estrangeiros”, mostra como a referência alemã é importante, bem como a capacidade da indústria francesa de fazer sucesso frente a seus concorrentes do outro lado do Rio Reno. E nada resume melhor isso do que uma citação de Pierre Lefaucheux, o primeiro presidente da Régie Nationale des Usines Renault: “É comum achar que as potências industriais estão do outro lado do Canal da Mancha, do outro lado do Rio Reno, ou do outro lado do Atlântico, como se a França fosse um país de pequenas realizações industriais ou, no máximo, de médio porte, e que as grandes indústrias nacionais têm uma base frágil para entrar nestes mercados. Muito pelo contrário, nós confiamos na vitalidade do país e o evento de hoje só confirma que tínhamos razão”[I]. [I] Discurso pronunciado em 8 de abril de 1954, por ocasião da produção do modelo Renault 4 CV de número 500.000, reproduzido no livro Renault, Cent Ans d’Histoire, de Jean-Louis Loubet.
74
XII Alemanha
O Twingo foi o quarto pilar da reconquista, e um item decisivo na perenidade das vendas com o passar do tempo. Na Alemanha não tínhamos muitas informações a respeito deste “objeto não identificado”, que serviria para ampliar a oferta de produtos a partir dos modelos de entrada. Nos anos anteriores, havia sido debatido a respeito da viabilidade de se produzir um carro de pequeno porte, original e popular, com grande envolvimento do sindicato, seguindo a vocação nacional da Renault no pós-guerra. Todos os cálculos eram economicamente ruins e dissuasivos. A ideia foi adotada pelo Presidente Levy sob outra forma, que lançou um brilhante projeto kamikaze (posteriormente, o Logan da Dacia seguiria o mesmo caminho). Yves Dubreil e sua equipe mergulharam neste trabalho, apesar do ceticismo do pessoal técnico, dando nascimento a um projeto que não encontrava equivalente no mercado. Nós nos conhecíamos um pouco e ele me pediu para visitá-lo na plataforma de desenvolvimento do projeto em Rueil-Malmaison, para testar minhas reações que, agora, eram consideradas germânicas. Tínhamos um encontro marcado para as 7 da manhã. Fui até o subsolo, com o crachá de acesso de segurança, e tentei me esforçar para não trair minha reação quando vi o produto. Yves falava como um vendedor, e eu silencioso como um monge trapista [religiosos da vida solitária]. Eu não havia esquecido como era o comportamento dos clientes alemães e reagi da mesma maneira: indo de um lado para o outro, olhando por dentro, por fora e por baixo, nos mínimos detalhes. Na verdade, eu me perguntava como o público alemão reagiria. Yves Dubreil não esperava minha opinião pessoal, mas a da Renault Alemanha, pelo meu intermédio. Havíamos decidido atacar o mercado alemão de frente com o Renault 19. E o mesmo aconteceu com o Clio. Com o Twingo, tínhamos um produto que poderia atacar a concorrência na contramão, como já fazíamos com o Espace. “Se não estou profundamente enganado, Yves, este carro será um grande sucesso do outro lado do Rio Reno”. Esta era minha convicção. Existem duas categorias de clientes: a grande maioria é formada por conservadores, mas há uma grande fatia de clientes que aprecia a inovação tecnológica, que ousa e quer comprar aquilo que é surpreendente e inesperado. O Twingo fazia parte desta categoria, ou seja, algo “nunca visto antes”, típico da história da Renault, cujos modelos Renault 4, Renault 16, Renault 5 e Espace tanto sucesso fizeram do outro lado do Rio Reno. O protótipo foi mostrado a um grupo de jornalistas alemães, em um restaurante de luxo na região norte de Paris. Ele ficou estrategicamente posicionado no meio do salão, protegido por uma capa. Ouvi nitidamente o “Nossa!” de surpresa quando a capa foi retirada. O redatorchefe da Mot (revista automotiva alemã), com quem eu me dava bem, e que gostava dos nossos produtos, deu uma volta rápida ao redor do Twingo, apesar de sua corpulência. Wie haben sie es gemacht? (Como você fez isso?). Temos que concordar que design não faltava no produto. O carro sorria com seus grandes olhos, sendo ao mesmo tempo parrudo, compacto, urbano, com um interior modulável. A Renault estaria criando um novo segmento de mercado, e poderia conquistar seu terceiro trunfo em três anos no mercado alemão.
75
O lançamento para a Rede aconteceu próximo a Darmstadt, em um aeródromo desativado da OTAN. Três mil carros estavam expostos, prontos para serem comercializados. Depois da França, a Alemanha foi o segundo mercado de maior sucesso para o Twingo. Para mim, o fim da minha gestão se aproximava. Eu entregaria as chaves da gestão, esperando que aquilo que fizemos juntos colocaria a empresa em uma trajetória de sucesso perene. Eu tinha várias atividades externas, como muitas vezes acontece quando ocupamos a mesma função durante muitos anos. Eu as aceitava porque, depois dos choques de desaceleração seguidos de uma expansão expressiva nos últimos anos, a Renault Alemanha funcionava como um relógio. Fui eleito vice-presidente da VDIK (Associação Internacional de Montadoras Estrangeiras de Automóveis), e encontrava meus colegas importadores mensalmente. Analisávamos a conjuntura, os textos regulatórios, a situação das relações com a VDA (União das Indústrias Automotivas), presidida por uma personalidade externa, um antigo senador do SPD (o Partido Socialdemocrata), de Hamburgo. A associação rapidamente congregou a todos e criou um salão do automóvel em Leipzig, organizado em condições artesanais a partir de 1991, que alcançou um grande sucesso (mais de 100.000 visitantes), o que confirmou a pertinência da iniciativa. Com seus mais de 500 expositores atuais, o salão prosperou, sendo considerado o mais importante depois do Salão do Automóvel de Frankfurt. Os recursos investidos permitiram que a nossa associação chegasse a uma autonomia financeira. Não tínhamos contato oficial com a poderosa VDA, mas aprendi a conhecer os arcanos e o poder, que representa todo o setor automobilístico. O primeiro círculo corresponde às montadoras nacionais. Já o segundo é formado pelas fabricantes alemãs com participação de capital americano (Opel e Ford) e, o terceiro, todos os fabricantes de autopeças. O acordo entre todo o grupo é certamente a grande força desta associação alemã. Isso não impede que exista uma concorrência, às vezes violenta, mas tudo funciona como um “círculo fechado”, capaz de elaborar estratégias comuns e criar laços mais fortes que a simples relação comercial entre montadoras e fornecedores. O irmão do antigo ministro francês das relações exteriores, Henri François-Poncet, que representava a LVMH (grupo francês proprietário de marcas de luxo no setor de moda) em Munique, me explicou como era difícil entrar no círculo fechado da associação dos produtos de bebidas em geral e alcoólicas, assim como de distribuição de alimentos. O mesmo acontecia no setor de química, onde foi necessária toda a capacidade de persuasão do Dr. Lutz, presidente da ATOCHEM, subsidiária da ELF, para ser aceito na organização patronal correspondente. Em meados de 1992, foi organizada uma cerimônia em Stuttgart, cujo objetivo me falha à memória neste instante. Toda a indústria estava presente, inclusive os importadores. Em um cenário muito bem preparado e a uma única voz, montadoras e fornecedores anunciaram sua intenção de equipar os veículos com airbags de série. É claro que esta decisão resultava de uma longa preparação prévia. Assim, passemos rapidamente ao ato. Informei imediatamente a engenharia da Renault, pedindo que o futuro Safrane fosse equipado pelo menos com um airbag para o condutor, sem o que seríamos imediatamente rechaçados pela mídia. Mas era tarde, já que um equipamento desta natureza só pode ser integrado mediante uma longa fase de ajuste do projeto. Tomados de assalto, os engenheiros argumentavam sobre a periculosidade do sistema! Sabemos muito bem o que aconteceu depois disso e, atualmente, até os carros populares são equipados com o sistema hoje. Na França, esta união de indústrias para definir a atuação de cada player de mercado não faz parte da filosofia de trabalho. Pode-se dizer que há três canais: o da Renault, o da PSA, e o da 76
FIEV (Federação das Indústrias de Equipamentos Originais). As relações não menos próximas e mais pulverizadas. A implementação da plataforma automotiva (PFA) em 2009 foi um primeiro passo rumo à organização do setor automobilístico nos moldes alemães, a ponto de a França poder se orgulhar de ter campeões de nível mundial entre os fabricantes de autopeças. Não há uma razão estrutural para que a indústria automobilística francesa não seja pioneira em inovações disponibilizadas para o mercado. A fase inicial da reunificação havia sido concluída no início de 1993. Foi iniciada uma segunda etapa, mais difícil, permitindo sua aplicação em todos os setores da sociedade – e que duraria anos. Eu não tenho certeza se ela foi concluída, nos dias atuais. Serão necessárias várias gerações para isso. O mais fácil foi, sem dúvida, a extensão imediata da República Federal aos novos Länder (estados). Simultaneamente, foi organizada em Bonn a cerimônia de aniversário de 30 anos do Tratado Franco-Alemão, chamado de Tratado do Eliseu, e a comunidade francesa compareceu em peso. Joachim Bitterlich, que havia se tornado Conselheiro Diplomático do Chanceler alemão naquela época, e eu, queríamos que o presidente da França e o chefe do executivo da República Federal, Richard von Weizsäcker, visitassem rapidamente o Liceu francês e seu correspondente alemão, o Liceu Friedrich Ebert. Pleiteada por Joachim Bitterlich, a sugestão foi aceita. Junto com os dois diretores, havíamos previsto reunir aproximadamente vinte alunos das duas nações, sendo que cada um faria uma pergunta, os franceses em alemão e os alemães em francês. No horário previsto, o Presidente da República alemã estava lá, mas não se via o cortejo de Helmut Kohl e François Mitterrand. Um coral “multicor” de crianças fez uma apresentação para o presidente, que não se mostrou impaciente e aguardou calmamente o fim da apresentação. Após aproximadamente 15 minutos que me pareceram intermináveis, entramos na sala e os dois dirigentes se instalaram, com toda a simplicidade. Era impressionante vê-los tão próximos nesta pequena sala triste, em um prédio antigo, construído com os fundos do Plano Marshall. O jogo de perguntas começou. Um jovem alemão fez uma pergunta bastante direta. Breve e incisivo, ele perguntou ao Presidente da França por que ele havia sido contra a reunificação. A questão foi direto ao alvo. O Presidente olhou em torno de si por alguns instantes. Ele falou por aproximadamente 15 minutos, contando emocionadamente o que aquele país significava para ele, sua experiência como prisioneiro na Alemanha e com a resistência. O Chanceler Kohl prestava atenção, educadamente (pois já sabia de tudo isso). E a reunificação? Ele aprovava, sem entusiasmo. As últimas falas dos dois homens sobre a nova era que se abria para a Europa foi calorosamente aplaudida. A democracia à moda alemã tinha algo de provincial, e isso funcionava muito bem. Havia pouca ostentação no exercício do poder, uma espécie de rigor protestante, distante dos furores do passado. Isso não impedia de existir combates políticos violentos, mas quando era necessário tomar distância com relação às diferenças e mostrar união antes das divisões partidárias naturais, o sistema e, principalmente, as pessoas, se dedicavam como visto no processo de reunificação. Naquele momento, a Alemanha legitimamente se questionava sobre sua competitividade. Talvez uma representação do advento da globalização? O debate era acalorado, e levantava questões os custos (a mão-de-obra chegava a ser quase 10% mais cara do que na França), mas também a organização geral pouco flexível do sistema social, que deveria, além disso, responder a uma reivindicação ativa de redução da jornada de trabalho. A definição da jornada 77
e dos salários na Renault Alemanha dependia de acordos nacionais, negociados pelos sindicatos dos metalúrgicos (IG Metal) e dos empregados. Quando voltei para a França, já estávamos rumando para as 37 horas, sendo que alguns setores estavam negociando 35 horas. Os conselheiros de comércio exterior da França, sob a direção de Claude Le Gall, o novo conselheiro comercial da Embaixada, organizaram um debate sobre este assunto, com altos funcionários e empresários alemães. O encontro foi organizado em Bercy (o Ministério das Finanças da França), tendo sido aberto pelo Ministro da Economia, permitindo mostrar que as coisas não eram tão simples assim do outro lado do Rio Reno, pois a curva de custos ameaçava a competitividade alemã. Na imprensa, a inquietude se traduzia por uma manchete provocativa: Standort Deutschland (a localização da indústria na Alemanha) e o receio de ver uma redução da malha industrial, principalmente porque, antes do nascimento do Euro, os países desvalorizavam suas moedas para compensar atrasos de produtividade ou níveis maiores de inflação. Seis anos mais tarde, o novo Chanceler Gerhard Schroeder lançava a agenda 2010 que, com a adesão de todas as partes, conseguiria recuperar a competitividade da República Federal a ponto de ultrapassar a da França em relação ao custo da mão-de-obra por hora. Assim como para a reunificação, este trabalho foi feito mediante um consenso nacional em torno dos esforços a serem feitos.
78
Epílogo
Convidado pela revista Auto Motor und Sport, em Stuttgart, em meados de 1992, tive uma conversa pessoal com seu editor-chefe, Helmut Luckner. Nós nos conhecíamos bem e, quando cheguei ao país, seis anos antes, ele não escondia sua desolação frente à evolução da Renault, principalmente na Alemanha. “Muitos de nós pensávamos que vocês sairiam do mercado” (Sie waren wie tod – “Vocês pareciam estar mortos”). E continuou: “Sei que o Presidente Levy logo deixará suas funções. Você acha que poderíamos vê-lo em Paris, para entrevistá-lo e, depois, fazer uma reportagem sobre a entrevista no jornal? Estamos impressionados com a reviravolta da marca, principalmente na Alemanha”. “Nenhum problema, vou cuidar disso”, respondi. Dois jornalistas foram a Paris, em junho de 1992. O dia estava espetacular e, transportados em um Espace cinza escuro, eles encontraram Raymond Levy no início da tarde, em uma sala onde ninguém poderia ser perturbado. O horário reservado era de 45 minutos, ou seja, menos de 25 minutos, contando a tradução. Ficamos mais de uma hora e meia juntos, condicionados apenas ao horário do voo de retorno para Stuttgart. A conversa girou em torno da qualidade do Twingo, do avanço na Alemanha e do papel determinante do Renault 19. Mas também foi comentado sobre a importância dada à segurança e aos crash tests, a velocidade nas rodovias, o carro do amanhã, a renovação da indústria francesa. O artigo foi tão impressionante como o título “Adeus, Monsieur”. Após a entrevista, percebi que Raymond Levy estava muito satisfeito. Aproximei-me e perguntei a ele: “Parece que o sucesso da Renault na Alemanha tem um significado especial para o senhor, não é mesmo”? “Muito mais”. Deixei a Alemanha em maio de 1993. É um país difícil e exigente, mas aberto e respeitoso em relação aos seus concorrentes. Admirei a forma como foi conduzida a reunificação e como a democracia e a liberdade venceram. Posso até dizer que fiquei marcado para sempre pela lembrança da guerra e do sentimento de culpa que ela deixou. A solidez do regime político e a bondade do povo permitiram uma reunificação branda. Em outro nível, aprendi e apreciei o sistema de gestão alemão, sua lentidão e rigor, apesar de meu temperamento. Mas era preciso partir... mesmo que as páginas anteriores demonstrem que, na verdade, eu nunca parti.
79
Posfácio
O que podemos incluir à leitura fascinante das lembranças das experiências de Luc-Alexandre Ménard vividas do outro lado do Rio Reno, um francês e executivo excepcional? Tive a oportunidade de conhecê-lo pouco após sua chegada à Alemanha e acompanhá-lo por meio de uma amizade que se tornou mais próxima durante sua aventura pessoal, coroada de sucessos em todos os sentidos. Primeiramente, ele foi o arquiteto do renascimento da Renault em solo alemão, no lado ocidental e, posteriormente, no lado oriental, em uma Alemanha reunificada, estabelecendo a simbiose entre as expectativas no mercado automobilístico que tinha a reputação de ser um dos mais difíceis e exigentes em todo o mundo, e o know-how dos engenheiros franceses. Ele soube encontrar a chave para um sucesso potencial, convencer seus superiores, correr riscos e perigos. Ao mesmo tempo, ele influenciou fortemente o futuro desenvolvimento do mercado alemão, com seu compromisso de instalar catalizadores em toda a gama de produtos Renault e lançar uma garantia anticorrosão de longo prazo. A marca francesa tornou-se alemã. Talvez ainda mais fascinante tenha sido a conquista do futuro mercado nos novos Länder alemães. Para conseguir isso, ele confiou em seus próprios colaboradores e concessionários, que mantiveram uma relação com o lado oriental, na época da RDA, assim como com a política alemã. Assim, ele lançou a conquista em um momento em que ninguém pensava que a reunificação seria fácil, muito antes das montadoras alemãs. Como um de seus principais interlocutores na época – hoje eu diria até que era seu “consultor pessoal” – Luc me cansava com suas perguntas sobre o processo que iniciamos em novembro de 1989. Ao contrário de muitos de seus compatriotas, ele tinha confiança na política do Chanceler Kohl, a qual eu tentava elucidar para ele. Na época, baseado em seu desejo de avançar o mais rápido possível, incentivei que ele assentasse as primeiras pedras para formar a futura rede de concessionárias. Este diálogo intensivo e permanente fazia com que eu também fizesse muitas perguntas, testando a opinião de um amigo que era grande conhecedor da política francesa sobre questões sensíveis. Outro elemento contribuiu de forma essencial na conquista da Alemanha de Luc. Estou falando da compreensão do modelo de funcionamento da economia alemã, sua cultura gerencial e a gestão conjunta ao modo alemão, em oposição direta ao modelo francês. Ele foi, e é, um dos raros franceses a ter rapidamente compreendido, aceito e adotado as condições básicas do bom funcionamento do sistema de gestão do país (Vorstand, Geschäftsführung), as relações com os sindicatos e sua representação dentro da empresa. Um pequeno exemplo marcou minha memória. Certa noite, durante a época de sua aclimatação na Alemanha, Luc me chamou para pedir minha opinião: “Posso aceitar o convite para jantar na casa do presidente da comissão sindical da nossa empresa? Não é melhor eu solicitar a aprovação de Paris?” Eu o incentivei a aceitar o convite. Tal encontro pessoal poderia estabelecer uma base de confiança para as futuras relações com o pessoal e a instituição com a qual ele deveria cooperar e entrar em acordo, de forma permanente. Na manhã seguinte, Luc me chamou novamente para me dizer simplesmente: “Obrigado”, e me contar sobre esta experiência totalmente nova e impactante para um francês. Seu anfitrião o
80
recebeu em sua própria casa e eles brindaram juntos para que, mesmo que tivessem que defender visões opostas, o objetivo era um só, ou seja, garantir o futuro da empresa. Uma década após sua partida da Alemanha, faço o caminho inverso. Impregnado pela economia social do mercado, o “modelo do capitalismo renano”, chego à França para servir um grande grupo francês e, logo de cara, tive que aprender uma cultura gerencial totalmente diferente, tão difícil de ser compreendida por um alemão. Mas foi a experiência de Luc, na Alemanha, que me ajudou a ser bem-sucedido em minha imersão na França. Também é preciso mencionar outro ponto da personalidade de Luc, seu engajamento societal em relação à comunidade francesa. Ele era totalmente comprometido com sua função na Renault, mas isso não o impedia de dizer “sim” aos pedidos do embaixador para comandar, em uma época crítica, a Associação dos Pais de Alunos do Liceu Francês de Bonn. Ao mesmo tempo, juntos pudemos contribuir para estabilizar o Liceu e garantir seu futuro em médio prazo. Para mim, seria totalmente normal que a República Federal da Alemanha o agradecesse por seus serviços, condecorando-o com a Medalha de Comendador do Mérito, por seu itinerário extraordinário na Alemanha. Joachim Bitterlich Joachim Bitterlich foi conselheiro de assuntos europeus junto ao Chanceler Helmut Kohl, entre junho de 1987 e maio de 1993 e, depois, conselheiro diplomático e de segurança. Embaixador até 2002, a partir de 2003 foi diretor de relações internacionais no grupo Veolia Environnement S.A. e, desde 2009, Chairman da Veolia Environnement na Alemanha.
81
Estela Carvalho é Mestre em Estudos da Tradução pela UFSC, com pesquisa na área de Linguística de Corpus / Terminologia, e graduou-se em Língua e Literatura Francesas pela PUC-SP. Desde 2002, é tradutora técnica com ênfase na área automobilística.
André Berri graduou-se em Letras Francês pela UFSC. É mestre em Linguística pela mesma universidade e doutor em Fonética Experimental e Aplicada pela Université des Sciences Humaines de Estrasburgo / França.
82
A Conquista Impossível Renault Alemanha 1986-1993
Do outro lado do Rio Reno, a Renault conheceu uma situação das mais difíceis, quando foi até mesmo considerado abandonar o mercado alemão. Mas, de forma totalmente inesperada, a marca do losango foi relançada por um homem: Luc-Alexandre Ménard, Diretor Geral da Deutsche Renault, de 1986 a 1993. Nascido na cidade francesa de Châteaubriant, o autor nos conta sua batalha nos anos 90, quando era diretor da subsidiária da Renault na Alemanha. Naquela época, estes carros tinham naquele país a reputação de “enferrujar no catálogo”! Luc-Alexandre batalhou para recuperar a imagem da marca da montadora, antes mesmo da reunificação das duas Alemanhas, tendo sido capaz de preparar a criação de uma rede de concessionárias bem antes da queda do Muro de Berlim. Podemos falar de uma conquista do Leste com a montagem de todas as peças de uma rede que anteriormente fazia parte da República Democrática da Alemanha, a RDA, em uma época em que a nem a internet e nem celular existiam. Esta verdadeira aventura é narrada por aquele que foi eleito homem do ano de 1991 pela publicação francesa Journal de l’Automobile. As memórias de Luc-Alexandre Ménard soam como uma lição: levar em consideração as expectativas dos clientes, a qualidade dos produtos, a importância da rede de concessionárias, ter conhecimento do mercado, saber determinar os preços, entre outros. Esta lição nos é transmitida por um veículo que representou uma verdadeira transformação na Renault em matéria de qualidade e foi um verdadeiro sucesso na Alemanha. E isso muito se deve a Luc-Alexandre Ménard. Neste livro, que pode ser lido como se fosse um romance empresarial, ele explica como a Renault obteve sucesso na Alemanha, mudou sua imagem de marca e conseguiu até ser fornecedora de automóveis para a Deutsche Telekom. Este livro é uma verdadeira lição de coragem, determinação e otimismo, cuja redação o autor conseguiu terminar alguns dias antes de sua morte. Direitos de tradução para o Português do Brasil concedidos pela: © Pixel Press Studio / gazoline.net
*****
83