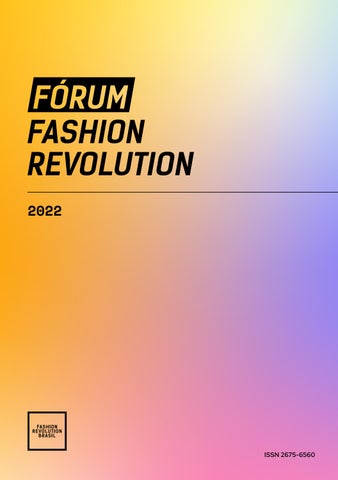9 minute read
COSTUREIRAS SOB A PERSPECTIVA DA REPRODUÇÃO SOCIAL E INTERSECCIONALIDADE
Lucilene Mizue Hidaka; Universidade de São Paulo; lucihidaka@usp.br
Resumo: Este estudo, de caráter bibliográfico e documental, utilizou-se da interseccionalidade de gênero, raça e classe, como categorias de análise, para discorrer sobre o ofício da costura junto ao trabalho de reprodução social. Foram utilizados depoimentos de costureiras de dois documentários, para trazer elucidações sobre as narrativas de mulheres que não são registradas na História. Palavras-chave: costureiras, reprodução social, interseccionalidade, histórias das mulheres, feminismo.
INTRODUÇÃO
A costura é considerada uma atividade feminina e tem sido ensinada por mulheres de diversas formas ao longo da história, seja passada de mães para filhas, pelos antigos cursos de magistério, depois por meio das revistas e escolas especializadas. Diferentes significados foram atribuídos a esta atividade, dependendo da época, do local e da classe social. Segundo Maleronka (2007, p. 47), nas classes mais abastadas, durante o século XIX, os saberes manuais e da costura significavam “[...] refinamento de gestos e respeitabilidade [...]”, eram utilizados como passatempo para as mulheres se manterem nas funções familiares e consideradas femininas. Já para as classes mais modestas, a atividade da costura era uma maneira de se iniciar no trabalho produtivo, sendo uma das poucas opções de geração de renda possível de se conciliar com as atividades domésticas. Em ambos os casos, é possível dizer que, como um ofício a ser realizado dentro de casa, teve o poder de isolar a mulher da sociedade e muito se passou desapercebido para aqueles que registraram a história (MALERONKA, 2007). Este estudo faz parte da pesquisa de mestrado em andamento da autora, que visa compreender as narrativas educacionais para mulheres, por meio da costura e do aproveitamento de resíduos têxteis em projetos sociais. O artigo, de caráter bibliográfico e documental (SEVERINO, 2016), utilizou-se de livros, artigos científicos e dos documentários “Costureiras” e “Outra ode às costureiras”. Traz a interseccionalidade como categoria de análise do ofício da costura, com o conceito de reprodução social.
COSTUREIRAS E A REPRODUÇÃO SOCIAL
Costurar demanda muito tempo de aprendizado. É um ofício que exige paciência e persistência. São muitas horas sentadas na mesma posição, e que, como mostra o documentário “Outra ode às costureiras” (SCHLOEGEL, 2017), tem causado doenças ocupacionais, as lesões por repetição (LER), que são deslegitimadas e não reconhecidas por empregadores, instituições da saúde e pela própria sociedade, como doenças que necessitam de afastamento e cuidado. As costureiras alegam que, para dar conta dessas dores decorrentes dos movimentos repetitivos, tomam muitos analgésicos e anti-inflamatórios e que nem as cirurgias realizadas fizeram cessar as dores. Elas comentam também sobre as jornadas triplas de trabalho nas confecções, junto ao doméstico, com o cuidado da casa e dos filhos. No documentário “Costureiras” (2018), quatro mulheres com idades entre 60 e 90 anos, que moram em diferentes cidades do Brasil, contam sobre suas trajetórias de vida como costureiras. Elas comentam que foi com “muito sofrimento”, trabalhando dia e noite, que conseguiram realizar o trabalho de costura com perfeição, para agradar a clientela. Sendo a remuneração por peça, trabalhavam durante muito tempo e por pouco, mas que, mesmo nessas condições, conseguiram criar seus filhos. Antônia dá seu depoimento de como criou os 10 filhos com os ganhos da costura e acrescenta que é uma profissão que ela gosta, não acha ruim, mas deixa o seguinte questionamento: “Vocês conhecem uma costureira rica? Tem não”.
Não é novidade de que a atividade da costura esteve e ainda está entrelaçada com a vida doméstica das mulheres, com o cuidado da casa e dos filhos. O que tem se discutido, desde a década de 1970, é que existe uma exploração do trabalho não remunerado, realizado majoritariamente por mulheres, que “produz a força de trabalho”, e este conceito ficou conhecido como “reprodução social” (FEDERICI, 2019). Em outras palavras, a reprodução social diz respeito às atividades que abrangem a “produção de pessoas”, apoiando a existência dos seres humanos para o trabalho, que significa a casa arrumada, comida feita, roupa lavada, sexo, cuidados com familiares, crianças e com a comunidade (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019), e a costura faz parte deste contexto. A atividade da costura permitiu que o trabalho, a produção e o consumo atuassem simultaneamente dentro de casa, e se, inicialmente, as mulheres pretendiam se utilizar deste ofício para ganhar tempo, como uma maneira de conciliar as tarefas domésticas e cuidados com os filhos, acabou por converter a máquina de costura em um “[...] instrumento de servidão: a fábrica em domicílio” (PERROT, 2017, p. 182). Importante salientar que não se trata de uma escolha consciente. O trabalho da costura foi sendo direcionado como um ofício para as mulheres realizarem em casa. O patriarcado, como uma formação social onde “o poder é dos homens” ou [...]
quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de opressão das mulheres” (DELPHY, 2009, p. 173), definiu que as mulheres compõem a parte da sociedade que possui habilidades relacionadas a paciência, aparências e decoração, incumbidas de trabalhar com costura, bordado, ilustrações, tecelagem, cerâmica, trabalhos estes ligados às práticas ou objetos da vida doméstica (BUCKLEY, 1986) e, então, estes ofícios foram sendo caracterizados como afazeres naturalmente femininos (MALERONKA, 2007).
Como coloca Souza (2019, p. 57), “[...] a mulher é voltada à maternidade e às tarefas sedentárias [...]” e “[...] ao homem cabem a iniciativa do senso de aventura [...]”, podendo este circular e atuar nas tomadas de decisões nos âmbitos sociais, econômicos e políticos da sociedade. Ou, como diz um texto de 1867, citado por Perrot (2017, p. 171), “[...] ao homem, a madeira e os metais. À mulher, a família e os tecidos”. Em suma, o patriarcado construiu o papel social da mulher, hierarquizou o grau de importância das atividades realizadas, colocou-as em papéis não profissionais e do lar, e as apagou como agentes da história.
COSTUREIRAS E A INTERSECCIONALIDADE
Neste estudo, também foi utilizado o conceito de interseccionalidade, como categoria de análise para compreender o universo da costura, pois permite melhor entendimento de grupos considerados invisíveis e que sofrem diversas opressões de poder, na medida que intersecciona gênero, raça e classe (CRENSHAW, 2015). No Brasil colonial, as mulheres brancas costuravam quase todas as roupas da família e as peças para a venda, pois era uma forma de se ganhar algum dinheiro, porém, elas executavam de uma maneira escondida, pois não queriam ser vistas por outras pessoas realizando tais atividades. Estas mulheres distribuíam as tarefas entre suas escravas, sendo que as mulheres negras eram encarregadas de ir para as ruas para vender as roupas e as mulatas eram responsáveis por fazer o trabalho de costura e do bordado (MALERONKA, 2007). Esta distinção de mulheres negras e mulatas, sob a perspectiva de González (1984), foi criada para determinar relações de poder que o português inventou para instituir “a raça negra como objeto”, sendo mulata, “a crioula”, a mulher negra que nasceu no Brasil.
Em São Paulo, grande parte das costureiras que trabalham nos bairros do Brás e do Bom Retiro são imigrantes bolivianas. Elas trabalham de maneira informal ou escravizadas, por no mínimo 14 horas por dia, e acabam adquirindo doenças ocupacionais e por estarem em situações insalubres. Boa parte delas dormem nas próprias oficinas ou trabalham em suas casas, e acabam por colocar seus filhos e filhas para auxiliá-las na produção (CASARA, 2021). A autora Lugones (2008) colabora para a compreensão dos cenários apresentados, segundo ela, as mulheres de cor1, colonizadas, denominadas de negra, hispâni-
ca, asiática, nativa-americana e chicanas, foram violentamente inferiorizadas pelo capitalismo moderno patriarcal eurocêntrico branco, por meio da “colonialidade de gênero”, e a autora nos convida a pensar em um tipo de poder que ela chamou de “sistema de gênero colonial moderno”, que instrumentalizou a subjugação destas mulheres em todos os âmbitos da vida e as excluiu da história, da teoria e prática, nas lutas libertárias realizadas em prol da mulher2 (LUGONES, 2008). As mulheres pretas são as que mais sofrem diversas camadas de opressão pelo capitalismo que, ao instituir a divisão racial da reprodução social, por meio da escravidão e do colonialismo, obrigaram-nas a dar sua força de trabalho gratuitamente ou de forma desvalorizada, para as mulheres brancas (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). O capitalismo mostra que tem o poder de dividir para dominar (FEDERICI, 2021), e de produzir “[...] experiências e perspectivas qualitativamente diferentes sobre o mundo” (FEDERICI, 2022, p. 255). Esta realidade é vista dentro do contexto da costura, como um trabalho feminino, racializado e que tem diferentes dimensões, conforme sua classe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a costura tenha possibilitado que mulheres ganhassem seu próprio dinheiro, criassem seus filhos, conseguindo uma certa autonomia e independência financeira, foi com um custo muito alto, com horas a fio de trabalho, olhando para baixo, na mesma posição, fazendo movimentos exaustivamente repetitivos, tendo de lidar com suas dores emocionais e físicas, muitas vezes caladas, para poder seguir costurando. O tempo das mulheres costureiras foi dominado e expropriado pelas muitas jornadas de trabalho e com a carga mental de ter de gerenciar todas as atividades da reprodução social. Este ofício segue precarizado, gendrado, racializado e pertencente às classes mais baixas de mulheres que foram invisibilizadas da história.
AGRADECIMENTOS
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio desde janeiro de 2022.
REFERÊNCIAS
ARRUZZA, C.; BHATTACHARYA, T.; FRASER, N. Feminismos para os 99%: Um Manifesto. São Paulo: Boitempo, 2019.
BUCKLEY, C. Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design. Design Issues, The MIT Press, Cambridge, v. 3, n. 2, p. 3-14, 1986.
CASARA, M. A indústria da moda violenta 1 milhão de mulheres costureiras. Brasil de Fato, [s. l.], 17 maio 2021. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/saiba-por-que-a-producao-de-roupas-e-um-dos-trabalhos-mais-opressivos-para-mulheres. Acesso em: 18 jul. 2022. COSTUREIRAS. Codireção: Mailsa Passos, Rita Ribes e Virgínia Gualberto. Documentário. (15 min). Rio de Janeiro: Projeto Cinestésico, 2018. Disponível em: https://www.youtube. com/watch?v=Aa0iVLZtCvY. Acesso em: 18 jul. 2022. CRENSHAW, K. Porque é que a interseccionalidade não pode esperar. Ação pela Identidade, Almada, Portugal, 27 set. 2015. Disponível em: https://apidentidade.wordpress. com/2015/09/27/porque-e-que-a-interseccionalidade-nao-pode-esperar-kimberle-crenshaw/. Acesso em: 8 mar. 2022. DELPHY, C. Teorias do patriarcado. In: HIRATA, H.; LABORIE, F.; LE DOARÉ, H.; SENOTIER, D. (org.). Dicionário Crítico da Feminismo. 2. ed. São Paulo: Edunesp, 2009. p. 173-178. FEDERICI, S. Social reproduction theory History, issues and present challenges. Radical Philosophy, [s. l.], n. 204, p. 55-57, 2019. FEDERICI, S. Patriarcado do Salário. São Paulo: Boitempo, 2021.
FEDERICI, S. Reencantando o mundo: Feminismo e a política dos comuns. São Paulo: Elefante, 2022.
GONZÁLEZ, L. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, Rio de Janeiro, p. 223-244, 1984. LUGONES, M. Colonialidad y Género. Tabula Rasa, Bogotá, v. 9, p. 73-101, 2008. MALERONKA, W. Fazer roupa virou moda: Um figurino de ocupação da mulher (São Paulo 1920 -1950). São Paulo: Senac, 2007.
PERROT, M. Mulheres. In: PERROT, M. Os Excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2017. p. 152-213.
SCHLOEGEL, A. Outra ode às costureiras. 2017. TCC (Curso de Graduação em Cinema) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em: https://www. youtube.com/watch?v=UpRd8UfHg7o. Acesso em: 14 jul. 2022. SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016. SOUZA, G. de M. O Espírito das Roupas: A moda do século dezenove. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.