

1
SET.-DEZ. 2024
Programaicinemaparaquemseháperdido,assimno gaming comodo tuning; nãodeixeiscairaprojeção,maslivrai-nosdoaudiovisual;abemdanoção econtraapropagandadospopulismosfascizanteseoseufascíniopela narrativaimagética,benditosejas,espíritocrítico.
Revistagratuita

�� Aanimaçãoportuguesaganhoumaiorvisibilidade. Daediçãode2022daSemanadaCríticaemCannes (prémioLeitzCineDiscovery)aoanoseguinte,com oprimeirofilmedeumcineastaportuguês,JOÃO GONZALEZ,quepassouda“shortlist”paraa nomeaçãoaoÓscar.E,nacategoriademelhor curta-metragemdeanimação,somaram-semuitos outrosprémiosemilharesdeexibiçõesdeICE MERCHANTS(projetadopeloCineclubedeFaronos claustrosdoMuseuMunicipaldaminhacidade,na fotografiade28.08.2023).
Provatipográfica
José Machado
PÁRA A ROTATIVA: NÓTOLA ÀS MANCHAS GRÁFICAS
Do sonho de uma revista para ser manuseada e palpável ao modo táctil em alguns ecrãs. No melhor plano cai o borrão: é inviável a distribuição postal para levar um primeiro número impresso aos leitores, na sua maioria, dispersos pelo mundo. Existem, no entanto, vantagens, como a ausência de taxas alfandegárias ou de portes e, sem adicionar preço à capa, que não é composta para ser isco à compra por impulso em banca e nem no interior está manchada com anúncios publicitários. A revista está pronta para sair dos três retângulos:
o primeiro, o da tela que recebe qualquer formato (onde se lê Europa Cinemas, na capa da gray-film). Refletimos a projeção que nos aclara e abre horizontes com a proximidade do passado; da Grande Guerra, de cada geração, às de hoje e a ascensão dos populismos; vamos à luta pela desejável reabertura de salas em todo o mundo com obras em língua portuguesa, vamos gestar programadores e estratégias de programação para novos espaços locais de cinema, em todas as suas formas;
o segundo rectângulo é o de Portugal visto, de fora, com profundidade de campo; assemelha-se na parte continental ao 9:16, que está no canto inferior direito da fotografia de capa com o mais portátil dispositivo audiovisual, a praga sempre luminosa, que incomoda também com estrondo, do peso do telemóvel, que produz uma pancada seca quando embate contra o chão de uma sala que está em silêncio para ver um filme;
o terceiro, turistificado sazonalmente desde que nasci está dentro do segundo rectângulo, o do meu Algarve: votou este ano, maioritariamente, para eleger populistas, como a maioria dos eleitores, nas eleições legislativas, pelo círculo da Europa… Apanhamos Percebes (Alexandra Ramires [Xá] e Laura Gonçalves, 2024), atentos à ondulação cíclica dos extremismos, longe da rebentação… A democracia não pode morrer na praia.
A caminho do centenário da marca gray-film, que as memórias inspirem estudantes, cineastas, amantes de cinema e quem se interessa por programar diferentes cinematografias. Toda a gente é muito bem-vinda à sua revista gray-film com três edições por ano (janeiro, maio e setembro). ��
007 UmadeusaAugustoM.Seabra
José Manuel dos Santos
010 TheGreatestFilmsofAllTime
Augusto M. Seabra
SUMÁRIO SET.-DEZ.
N.º 1 2024
013 ASAPEP
Pedro Mexia
015 Nice,àproposdeManoeldeOliveira
Pedro Prista Monteiro
019 LivroEspelhoMágico–umahistóriadocinema
Francisco Valente
027 Paraouvir:PoetryandFilm–oúltimosimpósio(1953)
Dylan Thomas, Arthur Miller, Maya Deren, Parker Tyler, Willard Mas e Amos Vogler
028 RicardoMarquestraduzdoispoemasde…
Dylan Thomas
034 DylanThomasfotografadopor…
John Gay
035 JohnGayfotografadopor…
Marie Anita Gay
DiretoreEditor: José Machado (CCPJ n.º TE74)
ProjetoGráfico: Ø. Itemzero
Paginação: José Machado
Participamnestenúmero: Alexandra Ramires [Xá] (ilustração), Augusto M. Seabra (In memoriam), Francisco Valente, Joaquim Pedro Pinheiro (fotografia), Laura Gonçalves (ilustração), José Manuel dos Santos, Luís Almeida, Mariana Liz, Mário Macedo (fotografia), Pedro Mexia (poema), Pedro Prista Monteiro e Ricardo Marques (tradução). Fotografiasdecapaeverso: José Machado (Claustros do Museu Municipal de Faro, com projeções do Cineclube de Faro).
Distribuição digital e gratuita com periodicidade quadrimestral. Estatuto Editorial disponível em http://estatuto.gray-film.eu/
Correspondência: E.C. Picoas - Ap. 1088, 1052-001 Lisboa, Portugal machado@gray-film.eu • www.gray-film.eu
A marca europeia gray-film© e o título registado, em Portugal, na ERC com o n.º 128046, são propriedade de José Machado. ISSN: 2976-0917
A fonte, Taca©, do logótipo gray-film foi desenhada por Rúben R. Dias. Sede, do editor, em Lisboa: Av. de Casal Ribeiro, n.º 17 - 3.º Esq. Fte.
038 LivroRunningAwayIntoYou
Mário Macedo
047 Verparaservisto
Luís Almeida
050 DeAnnecy,comamor
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves e Joaquim Pedro Pinheiro
056 Percebes?
José Machado
059 LivroEuropeanCinemaintheStreamingEra
Mariana Liz
068 Quemdeunomeàgray-film?
José Machado
100 Ler,comosedeveler,empapel
José Machado
102 DaredaçãodoCinéfiloaoJornaldeLetras
José Machado
Agradece-se ao Centro de Documentação da Cinemateca Portuguesa; Pedro Santos, Arquivo da Rádio e Televisão de Portugal (RTP); José Luis Estarrona Manzanares, Unidad de visionados, Diego Ruiz, Archivo, Área de Fondos, Cristina de Torres, Filmoteca Española; Noemí Maya Plaza, Àrea de Documentació, Filmoteca de Catalunya;
Léa Leray, Projets culturels de l'Institut national de l'audiovisuel;
La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse; La bibliothèque de la Cinémathèque française;
La Bibliothèque Nationale de France;
La biblioteca de la Filmoteca Vasca (Euskadiko Filmategia, Tabakalera);
La Mediateka BBK;
La Biblioteca Nacional de España.
Do editor: sete anos após estudar na Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, voltei à ECAM para a 10.ª edição do máster de crítica cinematográfica, com os Caimán Cuadernos de Cine e o enorme privilégio que é aprender com Carlos F. Heredero, Jara Yañez, Javier Rueda, Javier H. Estrada, Asier Aranzubía, Carlos Losilla, Javier Pena, Carlos Reviriego, Luis E. Parés, Roberto Cueto, Juanma Ruiz, Santos Zunzunegui, Enric Albero, Àngel Quintana, Jonay Armas, Elsa Fernández-Santos, Javier Ocaña, Luis Martínez, Sergi Sánchez, Elsa Tébar, Violeta Kovacsics, Fernando Lara, Andrea Morán, Domingo Sánchez-Mesa, Daniela Urzola e Felipe Rodríguez Torres. Foram elas e eles, sem que soubessem o bem feito para este fim, que me deram respiração natural para pensar a gray-film.
A.M.S. (1955–2024)
Texto
UM ADEUS A AUGUSTO M. SEABRA
José Manuel dos Santos
Gostava de cinema e gostava de pensar o cinema. Fazia do que nele via um contacto, às vezes uma fricção, com outros modos de pensar outras artes: a literatura, o teatro, a música, a pintura. Essa demanda dava ao seu pensamento sobre a arte e a cultura uma concavidade e uma convexidade que o tornavam singular e inquieto.
A actividade crítica do Augusto M. Seabra, nos vários jornais em que, durante décadas, colaborou, é única e valiosíssima pela informação exaustiva que tinha sobre o que escrevia, pelo rigor obsessivo com que falava, pela coragem com que dizia o que pensava, pela qualidade moral e intelectual da sua atitude.
Num país em que não dizer muito bem de tudo e de todos é ir fazendo uma colecção de inimigos activos e vingativos, ele tinha a coragem de dizer mal e de não poupar ninguém. Mesmo quando eu discordava dos juízos que fazia sobre obras, espectáculos, acontecimentos, programações, intervenções, políticas, pessoas, não deixava de admirar a firmeza do seu destemor crítico e a solidez com que a manifestava. Ele sabia que, para saber gostar, é preciso saber não gostar.
Tinha uma cultura enciclopédica: extensa, intensa, vasta, profunda, atenta à complexidade infatigável das ideias e do mundo. Como crítico, ensaísta e programador cultural, o seu amor à Teoria nunca o deixou cair na armadilha das opiniões de ocasião, fúteis e frívolas, sem fundamentos nem argumentos, estúpidas e insolentes. O conhecimento meditado que tinha da vida e da obra de Theodor W. Adorno foi-lhe sempre um bom exemplo e uma fonte de inspiração.
No entanto, apesar do imenso aparelho teórico de que dispunha, isso não o impediu de escrever alguns dos mais pessoais e comovidos textos sobre as obras de arte e de pensamento que amava com um amor perseguidor e quase proustiano: na música, no cinema, na literatura, na filosofia.
Infelizmente, a longa e grave doença não permitiu, nos últimos anos, a sua participação activa na vida cultural, com a antiga ênfase, assiduidade e impacto. E foi quando essa participação nos fez mais falta. No meio das consagrações constantes e indecorosas dos medíocres de todos os géneros e das
mediocridades de todas as espécies, a voz do Augusto teria sido um magnífico sinal de que ainda nem tudo está perdido.
Fui amigo do Augusto desde os anos 70 do século XX. Houve sempre entre nós um diálogo entusiasmado e afectuoso. Mas isso nunca foi razão para que ele, quando era caso disso e nos encontrávamos, não arrasasse ferozmente o que tinha a arrasar, mesmo quando era de amigos meus (políticos, por exemplo) que falava.
As suas polémicas foram memoráveis e fizeram história. O cheiro a sangue dava-lhe uma alucinação shakespeariana para as continuar e multiplicar. Algumas delas originaram movimentações sobressaltadas e quase provocaram tumultos.
Tinha uma preocupação compulsiva com o estado da cultura em Portugal e com as políticas culturais ou a falta delas. Observava, com uma atenção microscópica, os desacertos, as falhas, as interrupções, os ziguezagues, os desvios, as inconsequências dessas políticas gerais ou sectoriais (do cinema também).
Não fazia discursos evangélicos sobre as bem-aventuranças da cultura, mas, do que dizia, percebia-se que acreditava nos imensos benefícios, individuais e colectivos, de um esforço, feito com inteligência, aplicação e consequência, para mudar as situações indecentemente – e incompreensivelmente – arrastadas de atraso, isolamento e provincianismo cultural, para afrontar e corrigir erros tão duradouros que parecem inexpugnáveis, para definir uma estratégia (usemos, no seu sentido original e forte, esta palavra repetida e exausta) com a ambição certa e os meios justos.
A cólera sagrada que manifestava contra os poderes públicos da cultura resultava da convicção de que, por incompetência, ignorância, negligência ou escassez de pensamento, todos os dias se perdiam oportunidades de sermos um país menos absurdo e menos atávico.
Outra das suas indignações rituais declarava-se na denúncia dos malefícios de uma gestão, hoje escandalosamente habitual em instituições culturais públicas e privadas. Dirigista, arrogante, autoritária e culturalmente nula, essa gestão distorce, deforma e desfigura os objectivos artísticos, submetendo-os a um sistema implacável que apenas se determina e avalia pelo êxito mundano-mediático dos “eventos” (vernissages, finissages, estreias, lançamentos, apresentações, entregas de prémios) e pelo imediato lucro financeiro obtido pelos “projectos”. Exercida com uma total boa consciência e desconsideração pelas garantias fundamentais e pelas leis, o seu lema-slogan hiante é o que afirma: “Quem paga é quem manda”.
Era legendária a faculdade que o Augusto tinha, em festivais de cinema, encontros, ciclos, ou fora deles, de ver filmes sobre filmes sobre filmes, sem nunca desistir ou se cansar. Via-os avidamente e dava ao que via os clarões da sua cultura e as elucidações da sua memória.
Quando me cruzava na rua com a sua figura desorganizada e um pouco irreal, ou o encontrava na FNAC do Chiado com as mãos sem lugar para mais livros e discos que ia escolhendo, ou o observava a entrar numa sala de espectáculos com os seus gestos ao mesmo tempo vulneráveis e veementes, parecia-me, não raro, estar a reconhecer uma personagem de um daqueles filmes que ele via para voltar a ver e do qual não parava de falar com uma agudeza erudita e uma eloquência excitada. O seu pensamento exigente, que
procurava a maturação, contrastava com o sorriso infantil com que não desistia de encantar o mundo e de ser encantado por ele.
Na sua morte, acontecida numa idade da qual a longevidade actual faz quase um tempo juvenil, a memória que guardo do Augusto M. Seabra é a de um homem que tinha uma forma aristocrática de não ter dinheiro, que queria saber sempre mais do que sabia, que não temia o desassombro da sua palavra crítica e que percebeu que a vida só vale a pena ser vivida se for maior do que é costume fazermos dela. ��
THE GREATEST FILMS OF ALL TIME (2012)
SIGHT&SOUND,
BRITISH FILM INSTITUTE
When suggesting a list of the ten best films, one should explain his own régle du jeu. No such list can on its own propose a global vision of the art of cinema. Thinking over and over about my list, I almost find it shameful not to include a film by directors I admire – such as Sjöström, Murnau, Lang, Dreyer, Vertov. Dovjenko, Keaton, Chaplin, Hawks, Ford, Welles, Mizoguchi, Kurosawa, Ghatak, Powell, Rosselini, Bresson, Antonioni, Bergman, Tati, Munk, Rivette, Oshima, Straub, Tarkovski, Paradjanov, Schroeter, Syberberg, Duras, Oliveira, Angelopoulos, Cronenberg, Lynch, Kiarostami – not to have a musical or a Western, or not to have deeply personal choices as Letter from an Unknown Woman (Ophüls), The Ghost and Mrs. Muir (Mankiewicz), Wild River (Kazan), The Spirit of the Beehive (Erice) and so on. Neverthless, between Intolerance and Histoire(s) du cinéma, this list suggest films that I believe we must absolutely consider in trying to understand cinema as an artform, one that represents a worldwide endeavour and the powers of aesthetic imagination. ~ A.M.S.






�� OcânonedeAugustoM.Seabra.


Pensando vezes e vezes sem conta sobre a minha lista, parece-me quase vergonhoso não incluir um título de realizadores que admiro – como Sjöström, Murnau, Lang, Dreyer, Vertov, Dovjenko, Keaton, Chaplin, Hawks, Ford, Welles, Mizoguchi, Kurosawa, Ghatak, Powell, Rosselini, Bresson, Antonioni, Bergman, Tati, Munk, Rivette, Oshima, Straub, Tarkovski, Paradjanov, Schroeter, Syberberg, Duras, Oliveira, Angelopoulos, Cronenberg, Lynch, Kiarostami –, não ter um musical ou um Western, ou não ter escolhas profundamente pessoais como ‘Carta de uma Desconhecida’ (Ophüls), ‘O Fantasma Apaixonado’ (Mankiewicz), ‘Quando o Rio se Enfurece’ (Kazan), ‘O Espírito da Colmeia’ (Erice) e outros.
�� AugustoM.Seabracitadonoobituárioredigidopor AnaGoulãoedifundidopelaLUSA.05.09.2024



�� ÚltimaprojeçãodoanodaFestadoCinemaaoArLivre nosclaustrosdoMuseuMunicipaldeFaro,iniciativa doCineclubedeFaro.30/08/2024

PEDRO MEXIA
ASA PEP
Está escrito num papel: asa pep. Cifra obscura, não é a primeira vez que surge do nada, numa gaveta,
dentro de um livro. É o meu Rosebud. Assim pensarão as gerações que virem escrito nestes papéis que vão queimar
esse nome fantástico, refrão encantatório. Fique dito, meus herdeiros colaterais, asa pep não tem sentidos misteriosos,
é apenas a mais simples mnemónica sobre o que sucede às palavras, fórmula liceal útil talvez num exame.
Ouçam bem o meu maior segredo: aférese, síncope e apócope; prótese, epêntese e paragoge.




�� PedroMexia,BárbaraBulhosaeFernandoPintodo AmaralnaapresentaçãodePoemasReunidos(Tinta daChina)emLisboa,LivrariadaTravessa.10/09/2024
17 DE NOVEMBRO DE 2024:
A Propósito da Bandeira Nacional (Manoel de Oliveira, 1988), direção de fotografia: Elso Roque; som: Joaquim Pinto e Vasco Pimentel; texto: Pedro Prista Monteiro; pinturas: Manuel Casimiro; montagem: Ana Luísa Guimarães; locução: Manuela de Freitas e Luís Miguel Cintra; diretor de produção: Manuel Guanilho. Estreia mundial: Cinemateca Portuguesa, 9 de dezembro de 1988.
Manoel de Oliveira, citado por João Bénard da Costa, (Folhas da Cinemateca, 2008), disse: É um filme enigmático, com pinturas enigmáticas. E há um texto de Pedro Prista Monteiro, que em vez de explicar o filme, ainda o torna mais enigmático. Achei muita graça a esse conjunto de coisas.
Torna-se obrigatória uma visita ao Porto e a Serralves, para o encerramento de um ciclo vasto, a 17 de novembro, às 17h que inclui os 7 minutos de A Propósito da Bandeira Nacional, por João Mário Grilo, curador da exposição Manoel de Oliveira e o Cinema Português 2, com António Preto.


À Propos de Nice (A Propósito de Nice, Jean Vigo, 1930); direção de fotografia: Boris Kaufman. Estreia mundial: França, 28 de maio de 1930. Estreia em Portugal: Estúdio, 23 de fevereiro de 1973.
Nice… À propos de Jean Vigo (Manoel de Oliveira, 1983), série Regard sur la France. Ante-estreia: Cinemateca Portuguesa, 27 de outubro de 1983. Estreia em televisão: France 3, às 20h35 de 7 de outubro de 1984. Por a gray-film ser uma revista para programadores, cuidados redobrados nas folhas de sala: Manuel Casimiro (não só un peintre, son fils), Pedro Prista (quando não é omitido, un ethnologue na base de dados do INA, um jovem antropólogo para o impreciso Jacques Lemière), Eduardo Lourenço (1923-2020, un enseignant sem nome) e a filha de Jean chama-se Luce Vigo. A gray-film orgulha-se de publicar Pedro Prista, quatro décadas após Nice… À propos de Jean Vigo. ��
A
MANOEL DE OLIVEIRA EM NICE
Texto
Pedro Prista
Quando em 1983 Manoel de Oliveira vem a Nice filmar a cidade, e recordando outros filmes seus, julguei adivinhar as sugestões que o lugar lhe faria sobre a vida em acção no palco urbano e sobre a comédia humana no lugar turístico. Não me enganei demasiado, mas como não conhecia então o filme de Jean Vigo escapou-me a parábola que tão obviamente iria fazer o arco entre os dois realizadores à distância de meio século e menos ainda previ o papel que iria ter nele.
Manoel de Oliveira era um amigo de meu Pai, o médico e dramaturgo Hélder Prista Monteiro (1923-1994). Cruzaram-se amiúde em amizades comuns, como a de José Régio, e partilhavam um forte sentido histriónico da vida. Tiveram episódicos relacionamentos médicos, mas outros mais fortes teatrais. Os filmes de Manoel de Oliveira A Caixa (1994) e Inquietude (1998) basearam-se em peças de meu Pai. A vinda de Manoel de Oliveira a Nice por uns meses tinha para mim apelos vários.
Em 1983 eu era um estudante da Universidade de Nice e encontrava-me com frequência com o Manuel Casimiro, filho de Manoel de Oliveira e meu quase vizinho, cuja obra artística me interpelava fortemente enquanto interrogação sobre o sentido e a expressão, temas que o meu trabalho defrontava a partir de um ângulo diferente, mas não alheio.
O meu trabalho em Nice decorria no quadro de um projecto da European Science Foundation sobre migrações e era então coordenado por Michel Oriol a partir do seu centro de investigação, o IDERIC. A minha pesquisa centrava-se nos processos de reprodução social nas comunidades de imigrantes portugueses e em especial nas questões de identidade cultural da segunda geração. Os trabalhos de campo decorriam em duas associações, uma em Le Cannet, perto de Cannes, e sobretudo no Clube Camões, a associação de emigrantes portugueses de Nice à qual tinha sido introduzido em 1981 por Alberto Trindade Martinho, ele também colaborador no mesmo projecto que Michel Oriol coordenava.
A questão da identidade cultural dentro de uma Europa de várias nações e multiétnica era, naqueles anos 80, um tema da maior importância a vários títulos, escalas e contextos, desde a coesão social comunitária até às estratégias territoriais duplas e pendulares de muitas comunidades migrantes tais como as portuguesas em França.
Acrescia a isto o facto de em Portugal o ainda recente 25 de Abril de 1974 e todo o processo de descolonização que se lhe seguiu, associados à perspectiva de integração europeia a curto prazo, terem gerado uma revitaliza-
ção dos debates em torno da identidade do país, só comparável ao que se passara em finais do século XIX com as Conferências do Casino em 1871, o Ultimatum de 1890 ou a celebração patriótica de vários centenários.
A obra fulcral que todos liamos e pensávamos era O Labirinto da Saudade (1978) de Eduardo Lourenço, pela qual estendíamos referências em todos os sentidos, desde a heteronímia de Pessoa ao telurismo de Torga, desde a revisitação da história com José Mattoso e Cláudio Torres até aos destinos do mundo rural entre a Etnologia Portuguesa e a Reforma Agrária. O país pensava-se como passado, actualidade e futuro, e convocava tudo e todos para o debate, dentro e fora de fronteiras.
Fora, o ciclo migratório que desde a década de 60 se orientara para a Alemanha, Benelux, Suíça e sobretudo França, dava uma expressão dramática e asfixiante da oclusão em que a sociedade portuguesa vivera. Sobretudo as gerações mais novas viviam presas entre as perspectivas de uma ruralidade de misérias e a interminável guerra colonial, num país onde não era possível esconder tudo o que se passava em desenvolvimento e liberdade noutros países a poucos quilómetros ao lado. Fugia-se então a salto ou com passaporte de coelho como se dizia.
Para estes migrantes, alguns deles refugiados políticos também, e tal como os conheci em França enquanto lá vivi, a questão da identidade tinha contornos muito diferentes das crises de identidade nacionais ou não. A questão era os papéis, o permis de séjour, a contrata e o emboche nas obras.
A confluência das suas vidas com os problemas práticos da identidade ia surgindo primeiro com a solidão e o desamparo que as saudades de casa e a distância da língua estranha criavam, e que problemas práticos por vezes impunham tragicamente, tal como os da trasladação de companheiros mortos nos frequentes acidentes de trabalho ou de estrada. Um ou outro local de encontro para trocar notícias, um copo, ou jogar à bola ao domingo davam cedo o sinal de uma vontade de empurrar para o futuro a vida naqueles lugares e a pouco e pouco foram surgindo as Associações de Emigrantes.
Estas, mais as novas configurações sociais resultantes do reagrupamento familiar entretanto proporcionado pelo sucesso das trajectórias pessoais e pelo quadro jurídico europeu e francês deram origem a uma situação nova que o projecto de investigação onde eu trabalhava muito queria compreender.
Consistia ela na condição das filhas e filhos dos emigrantes de 1.ª geração face a um país que não haviam conhecido por nascimento, mas onde estavam não só as suas famílias de origem como o património amealhado que haviam de herdar um dia. Para os pais desta nova geração, a escolaridade francesa e os acasos sentimentais das suas filhas e filhos poderiam colocar ao destino migratório a que se haviam abalançado um horizonte encerrado sobre si próprios, lançando-os mais tarde a uma velhice isolada depois do regresso a aldeias vazias e a mansões vistosas, mas desoladas.
O interesse em vincular as descendências ao país de origem de seus pais recomendava promover o encontro entre jovens nos bailes de sábado à tarde nas associações de emigrantes, e ainda assegurar alguma literacia em português, uma emotividade em torno da pertença nacional genérica e práticas de visita regular ao país.
Para estes objectivos contribuíam acima de tudo as campanhas de publi-
cidade dos bancos portugueses, os materiais promocionais de produtos portugueses enviadas às associações e um circuito oficial de material de propaganda, livros e filmes que o Ministério dos Negócios Estrangeiros distribuía através dos consulados. Conjunto aliás muito díspar de referências identitárias, mas respeitosamente recebido e guardado. Acima de todos, a bandeira nacional tinha um destaque significativo e era alvo de usos e recomposições semiologicamente muito criativas e interessantes.
Contudo, o grande momento onde todo este processo prático de identificação social ao país de origem dos pais tinha lugar era o da viagem de férias preparada como peregrinação às raízes e exercício turístico nacional e até nacionalista. Por este motivo considerei na minha pesquisa estas férias em Portugal como uma autêntica superação pelo turismo das contradições e das angústias colocadas pelo estatuto social destes jovens ao mesmo tempo descendentes de trabalhadores subalternos em França e herdeiros cosmopolitas em Portugal. Um turismo ritualizado cuja aprendizagem Nice favorecia enquanto lugar histórico de vilegiaturas várias.
De tudo isto conversei largamente com Manoel de Oliveira sem me aperceber da escuta generosa que me dedicou. Até que um dia me pediu para lhe proporcionar a filmagem no Clube Camões de uma cena de baile de sábado à tarde. As filmagens obrigaram à instalação de um charriot no pequeno salão e decorreram com grande envolvimento dos presentes que tomaram a situação como uma honra e não como um estorvo à sua matiné habitual.
O plano em que dois emigrantes, frente às suas garrafas de cerveja portuguesa, narram os seus percursos migratórios e laborais, ou o outro em que dois jovens se interpelam rapidamente sobre um cartaz turístico de Portugal, ou ainda o da sessão de baile com a bandeira nacional a servir de telão de fundo ao palco onde uma jovem actua cantando com sotaque brasileiro, compõem um documento notável, até etnograficamente, de um momento fugaz mas crítico da passagem geracional na comunidade portuguesa emigrada em Nice.
Terão sido as nossas conversas sobre identidade cultural da 2.ª geração de emigrantes, e estas filmagens no Clube Camões de Nice que explicarão talvez a razão pela qual Manoel de Oliveira me tenha incluído, com Manuel Casimiro, já então um pintor reconhecido e Eduardo Lourenço no seu imenso prestígio, entre os portugueses que ali estavam naquela cidade com alguma interrogação funda com a qual lutavam intelectualmente e que em todos ia dar ao entendimento da identidade.
Só anos depois, quando o filme foi apresentado na Cinemateca Portuguesa com o filme de Jean Vigo, me apercebi do papel que a cena no Clube Camões desempenhava naquela alegoria de Manoel de Oliveira e na parábola que nela se retoma a partir da mesma cidade e da mesma inquietante visão do destino humano.
Hoje, passados 40 anos, e talvez sugerindo outra parábola que o meu íntimo adivinha agora, quis o acaso que as minhas memórias daquele tempo em Nice ganhassem algum interesse para acrescentar ao conhecimento da obra do grande realizador e permitir-me fazer-lhe nisso uma homenagem íntima, saudosa e grata. ��

�� EspelhoMágico–umahistóriadocinema,de FranciscoValente.Ed.OrfeuNegro,2024.628páginas deumlivrodepesoemformatodebolso:12,8x18cm ConcepçãográficadeRuiSilva.

Lançamento
DO LIVRO ESPELHO MÁGICO – UMA
HISTÓRIA DO CINEMA AO OUTRO LADO DA ESCRITA
Edição
José Machado
�� FranciscoValente(F.V.)comaapresentadora,Susana Bessa,dolivroEspelhoMágico–umahistóriado cinema(OrfeuNegro)naesplanadadaCinemateca PortuguesacomlivrariaLinhadeSombra(4dejulhode 2024).FotografiasdeJoséMachado.
(F.V.): O livro começa comigo, dentro de um comboio, a caminho de casa do Manoel de Oliveira, no Porto, a quem eu ia fazer uma entrevista para ser publicada no jornal Público, sobre O Estranho Caso de Angélica (2010). Comecei a pensar na ideia dos comboios e dos filmes e, portanto, esse foi o motor inicial para arrancar com uma história engraçada, porque ia visitar o Manoel de Oliveira numa sexta-feira santa. Até pensei: mas o Oliveira faz entrevistas a uma sexta-feira santa? Até achei um bocado estranho. Foi intimidante falar com ele, deu respostas intimidantes, mas, como é óbvio, extremamente interessantes. O exercício de fazer entrevistas para o Público era muito interessante porque não tinha qualquer espécie de intenção de conhecer tudo ou saber tudo sobre a pessoa que ia entrevistar ou os filmes sobre os quais ia escrever. Para mim, era uma motivação, muitas vezes, até conhecer pouco, e, com a entrevista e a pesquisa que fazia, então aí, só quando acabava o texto é que já sentia, O.K. fiz esta viagem, com o universo desta pessoa, com este filme, e isso está no texto e o leitor acompanha-me nessa viagem. Não tinha qualquer pretensão de dizer ao leitor o filme é isto ou esta pessoa é isto. Acho isso muito pouco interessante. Eu nem sequer tinha visto todos os filmes do Oliveira, como é óbvio conhecia-o e também os filmes dele, mas não conhecia todos. Isso também abriu espaço, na conversa que tive com ele, para algo existir. São portas abertas e nessa entrevista até falámos de portas. A minha motivação, quando escrevia sobre cinema, era essa, também porque acredito que isto é um livro de um espectador. Ser espectador significa qualquer coisa. É uma oportunidade para conhecermos o mundo, crescermos, e desafiar-nos, até colocar em questão a nossa maneira de olhar para o mundo e para as pessoas e de aceitarmos que não sabemos tudo. Nós não somos tudo, e o cinema é uma porta aberta para sermos algo mais e conhecermos algo mais. Nunca vamos chegar a esse fim, o de sermos uma totalidade, mas o cinema oferece uma amostra de totalidade e de eternidade. Enquanto estamos a ver um filme ou entramos em contacto com o universo de uma pessoa, há um ponto de encontro entre o filme, a projeção e o espectador. Saímos da sala de cinema valorizados e, para mim, ser espectador de cinema significa isso.
Quando comecei a ver filmes aqui na Cinemateca [Portuguesa], andava um bocado perdido, foi uma casa que me acolheu, até em momentos difíceis. Perdi-me na cinefilia e voltei a encontrar-me, mas, ao mesmo tempo, cresci enquanto pessoa. Sinto que me tornei mais tolerante e mais curioso por todos os filmes que andava a ver, as realidades que andava a conhecer através dos filmes, por ler os textos que se escreviam nas folhas da Cinemateca. Não sei se é a única cinemateca no mundo, mas é das poucas em que um espectador de cinema vem ver um filme e tem um texto a acompanhar a sessão, o que é mais uma porta aberta para um filme. Aqui valoriza-se, de facto, o espectador de cinema, algo que é tão importante como ser um cidadão, quase como uma profissão. Para mim, tornou-se uma profissão, de certa forma, sem querer que isso fosse uma coisa de profissional ou, como dizia o Godard, de «profissionais da profissão» [ les professionnels de la profession ]. Vemos filmes,
às vezes não percebemos tudo, ou ficamos meio confusos, mas continuamos com um filme diferente e o filme que vimos antes ajuda-nos a ver o filme a seguir, e podem ser duas obras completamente diferentes. Isso é um exercício de programação que se faz aqui na Cinemateca e que me interessa muito: ligar dois filmes, aparentemente, completamente diferentes, mas, graças ao espectador, são dois filmes que, vistos um com o outro, valorizam-se ainda mais. E sermos espectadores de cinema com outros espectadores na mesma sala valoriza-nos ainda mais. Todo esse movimento constante, entre filmes e espectadores, parece ser eterno, e é isso que também é comovente no cinema.
Perdeu-se o ritual de sair de casa, ir até ao cinema, comprar um bilhete, sentarmo-nos na sala; estarmos no meio de outras pessoas e depois sair da sala, voltar até casa com o filme na cabeça. Isso é um movimento que espelha o movimento dos filmes, mas também não quero acreditar que isso vai morrer porque acho que nós seres humanos precisamos dos rituais para viver. Não havendo rituais, é um bocadinho o colapso da civilização. Precisamos dessas coisas para comunicarmos uns com os outros, e acredito que o ritual do cinema é muito importante para o cinema existir, e vai sempre continuar a existir. Quantos cinemas é que encerraram em Lisboa ou em todas as outras cidades? Imensos. Ainda há um ou dois sobreviventes nesta cidade, o que é muito pouco, mas há pessoas que continuam a ir a essas salas e acredito que a tendência será para abrir mais salas, mas isso obriga a trabalhar o espectador. Não é aquilo que se faz hoje em dia em Portugal, em 90% ou mais das salas, em que se recebem catálogos de filmes, todos uns iguais aos outros, e os filmes são despejados nas salas, achando que as pessoas vão ver os filmes de qualquer maneira, a um sábado ou a um domingo. Hoje em dia, para abrir uma sala, tens mesmo que conhecer os filmes e trabalhar o espectador; é preciso ser programador, saber o que se está a fazer, porque os filmes não são só pastilhas elásticas da mesma marca com sabores diferentes, podem ser um bocadinho e é fixe um filme ser um bocado bubble gum, mas os bons filmes bubble gum também tem coisas dentro deles que nos fazem pensar. Acho que esse é o grande desafio, já não é tanto fazer filmes, porque há muitas pessoas a fazer filmes, e saem filmes extraordinários todos os anos, mas são os lugares para cumprir esse ritual, acreditar que o cinema não vai morrer porque ainda precisamos de rituais, e ainda há pessoas que vão precisar desse ritual. Eu vou precisar sempre.
A ideia que o streaming tenta vender, de que é muito mais conveniente e fácil estarmos sentados em casa a escolher um filme Para mim, acho isso muito mais complicado. É muito mais fácil conhecer uma sala de cinema, as pessoas que escolhem os filmes que passam lá, eu, indo lá, sei que posso não gostar do filme, mas vou viver uma experiência. Sair de casa, chegar lá, comprar o bilhete, sentar-me, ver o filme sossegadinho, não é esforço nenhum. Isso para mim é incrivelmente mais fácil do que estar sentado em casa a tentar escolher um filme na Netflix, que até tem algumas coisas boas, mas que estão completamente enterradas no catálogo. É preciso estar lá horas para encontrar um filme e aquilo está mesmo feito para vermos os filmes que saem constantemente, não o que há de bom no catálogo da Netflix; e quando digo Netflix, pode ser qualquer outro streaming service. Isso é muito mais difícil do que o ritual de ir ver um filme a uma sala de cinema.


No streaming, o conforto de estar em casa é propício para experiências que são reconfortantes. O cinema não está feito para sairmos da sala de cinema e dizer: Ai que bom, senti-me tão bem, foi mesmo… O cinema também oferece isso, mas gosto de sair de uma sala de cinema e sentir: — É pá, o que é que eu acabei de ver… Ou até ficar sem palavras porque o filme tocou em mim de uma maneira que me fez entender que tinha qualquer coisa dentro de mim que não sabia ter ou algo, não quero dizer traumático, mas da própria experiência da vida, de coisas que experienciamos e que ainda não processámos ou temos dificuldade em processar na vida real e que um filme nos ajuda a processar e a entender. São experiências que nos deixam completamente combalidos. Lembro-me de ver aqui, na Cinemateca, o Rebel Without a Cause (Fúria de Viver, Nicholas Ray, EUA, 1965). O filme tocou em mim de uma maneira em que percebi, há aqui qualquer coisa neste filme que me deixa completamente sem palavras e que terá a ver com o que estas personagens vivem ou sentem e que toca em coisas que eu vivi.
[O cinema] é uma espécie de terapia, porque é um complemento àquilo que sentimos, mas as imagens têm um valor diferente das palavras. Podes ter alguém a explicar-te aquilo que tu sentes e até podes entender o que a pessoa está a dizer, mas depois tens de processar aquilo emocionalmente, e isso é o trabalho da terapia. No cinema, não tens ninguém a falar contigo, estás só ali a ver imagens e, emocionalmente, aquilo já está a mexer contigo. Depois cada espectador faz o que quiser com isso. É a liberdade do espectador.
[Com o livro] aceitei que é impossível dizer tudo sobre um filme, e isso também ajuda a falar sobre um filme em dois parágrafos. Tentei escrever algo que acompanhasse a experiência que uma pessoa poderia ter ao ver um determinado filme e não encerrar a experiência nesses parágrafos, antes reflectir um movimento que seguisse em frente. E isso ajuda a ser mais sucinto e a escolher bem as palavras, e o incrível trabalho de revisão, que agradeço do fundo do coração, tornou este livro muito melhor do que era.
Cada espectador poderia escrever um livro sobre a sua autobiografia de espectador com as suas experiências no cinema. Quando se faz um filme, temos sempre a esperança de ter muitas/algumas pessoas a ver o filme, mas não esperamos, de forma alguma, que tenham todas a mesma reação. O mesmo quando escrevemos um texto. Quando escrevia para o Público, um jornal com uma grande circulação, era um privilégio escrever lá e trabalhar com aqueles editores. Foi um privilégio trabalhar com o Vasco Câmara, que nos oferecia a liberdade de escrever páginas e páginas…
— Ah, gostas do filme, quantas páginas queres?
Isso já não existe hoje em dia. Nesse jornal também não havia um leitor comum. Tentávamos oferecer algo que partia da pessoa que estava a escrever e da experiência de se ter visto um filme que tocava em diferentes questões, portanto, era uma coisa em aberto. Isso é a coisa bonita do cinema. Toda a gente está a ver as mesmas imagens. Uma imagem dentro do próprio filme pode significar coisas completamente diferentes para pessoas que são completamente diferentes dentro de um público, e essa é a riqueza do cinema. A ideia de fazer um filme que vai agradar a toda a gente e que vai fazer milhões

de espectadores porque toda a gente teve a mesma reação é uma coisa tirânica e de alguém que não faz a mínima ideia do que é o cinema, a expressão artística, a arte ou mesmo a arte do entretenimento. A coisa do “público comum” é uma ideia muito feia. Se há filmes que não gosto mesmo são os que tratam os espectadores como se fossem todos iguais e não tivessem cabeça, ou seja, oferecem uma experiência completamente fechada. Esses filmes não estão no livro.
Para os meus pais [na dedicatória do livro]
O cinema é também uma ideia de comunidade, e em francês fala-se muito da ideia do passeur. O meu pai e o irmão dele eram dois grandes cinéfilos, não tinham televisão em casa. Quando queriam ver imagens, iam à sala de cinema. Cresci, também, com uma coleção de VHS considerável em casa, e o meu pai criou o hábito de, todas as semanas, irmos ao clube de vídeo, na João XXI [em Lisboa] e escolher um filme por semana. Às tantas, o meu pai passava-se porque estava sempre a escolher a Academia de Polícia e ele já não podia ver aquilo à frente. Mais tarde, quando comecei a vir aqui à Cinemateca, não conhecia a história do cinema e era ele que recomendava os filmes. O primeiro filme que vi aqui foi o Cléo de 5 à 7 (Duas Horas na Vida de uma Mulher, França, 1962), da Agnès Varda, e depois comecei, com esse gesto, a escolher os meus filmes e a existir enquanto espectador. Foi, sem dúvida alguma, muito importante para mim. Depois, a minha mãe era educadora de arte, trabalhava num museu aqui em Portugal, cofundou o serviço educativo desse museu e eu e o meu irmão éramos um bocado as cobaias. Íamos fazer as experiências do serviço educativo e a minha mãe ensinava-nos a ver e a olhar para um quadro e objetos e encontrar lá histórias. Esse hábito de olhar e encontrar ali alguma coisa para além da superfície vem, sem dúvida, daí. Fui um privilegiado e tive muita sorte de receber isso da parte deles. ��
FRANCISCO VALENTE
Em Nova Iorque, F.V. põe em marcha The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema no MoMA, de 17 de outubro a 19 de novembro de 2024. A programação estará disponível em: moma.org/calendar/film/5736


�� «BeSand,NotOil–TheLifeandWorkofAmosVogel» (PaulCronin,Ed.FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol.24,Viena,Áustria,2014)


DYLAN THOMAS




�� Brochura«PoetryandFilm».DylanThomascomo dramaturgoArthurMiller,WillardMaas(cineastae poeta,quepresidiuàmesa),ocrítico,poetaeautor ParkerTyler,AmosVogel(organizadordosimpósio, fundadordoCinema16edoNewYorkFilmFestival)e MayaDeren,nodia28deoutubrode1953.
�� DylanThomasmorreuemNovaIorque(09/11/1953).
1953–1963. Uma década depois do simpósio Poetry and Film, Jonas Mekas publica no n.º 29 da Film Culture um excerto transcrito do encontro; para o escutar: parte 1, parte 2.
Leituras posteriores:
A realidade criativa nas obras da cineasta Maya Deren, pp. 29-32 (Fernanda Ianoski Ferro, 2023);
Afterword, in Mistral (Ben Bollig, 2023).

Literatura
DOIS POEMAS DE DYLAN THOMAS
Tradução Ricardo Marques
DOTRADUTOR
Provavelmenteescritonoverãode1941. Publicadoem «Life&LettersToday»,(agostode 1941),eemlivroem«DeathsandEntrances»,(«Mortes eEntradas»).
Diz-nosJohnGoodby:«Nestaprimeiraelegia paraumavítimadoBlitz,ousodeThomasdeum títuloaoestilodemanchetedejornaldáaopoemaum aspectosensacionalista,aomesmotempoquemostra oseuprópriofascíniopeloeventoeodesejode reimaginá-lonosseusprópriostermos.Apartirde umanotíciarealsobreamortedeumcentenárionum ataqueaéreosobreHull,amortedohomem,em frentedacasaemquenasceu,ondecresceueformou umafamíliaéapresentadacomoocumprimentode umciclonatural».
ENTRE OS MORTOS NO ATAQUE AO AMANHECER
ESTAVA UM HOMEM DE CEM ANOS
Enquanto o dia amanhecia sobre a guerra ele vestiu-se e saiu de casa e morreu, rebentaram as dobradiças quando a explosão se deu, e ele caiu onde amava nas pedras partidas do passeio por entre os fúnebres fragmentos do chão devastado.
Que se diga na sua rua que com as costas ele travou um sol e que as crateras dos seus olhos derramaram fogo quando das trancas voaram as chaves com um estrondo. Não procurem mais as cadeias do seu coração grisalho. Oh, não deponham seus ossos na vala comum, a manhã vai veloz nas asas da sua idade e cem cegonhas pousam na mão direita do sol.
Among those killed in the dawn raid there was a man aged a hundred
When the morning was waking over the war
He put on his clothes and stepped out and he died,
The locks yawned loose and a blast blew them wide, He dropped where he loved on the burst pavement stone
And the funeral grains of the slaughtered floor.
Tell his street on its back he stopped a sun
And the craters of his eyes grew springshots and fire
When all the keys shot from the locks, and rang.
Dig no more for the chains of his grey-haired heart.
The heavenly ambulance drawn by a wound
Assembling waits for the spade's ring on the cage.
O keep his bones away from the common cart,
The morning is flying on the wings of his age
And a hundred storks perch on the sun's right hand.
Provavelmenteescrito,emBosham,emabril/ maiode1944,poucoantesdaprimeirapublicaçãonuma ediçãoespecialsobreLorcadoperiódico«OurTime» (maiode1944);editadodepoisem «Deathsand Entrances»(«MorteseEntradas»).
NumacartaparaVernonWatkinsemjulhode 1944,Thomasafirmou:«ÉrealmenteumaCerimóniaea terceirapartedopoemaéamúsicanofinal».
Estepoema,juntamentecom«Entreosmortos noataqueaoamanhecerestavaumhomemdecem anos»e«ArefusaltoMourntheDeath,byFire,ofaChild inLondon»sãoostrêspoemasdeThomasmais directamenteligadosàexperiênciarealdoBlitz.
CEREMONY AFTER A FIRE-RAID
I
Myselves the grievers grieve
among the street burned to tireless death
A child of a few hours with its kneading mouth
Charred on the black breast of the grave
The mother dug, and its arms full of fires.
Begin
With singing Sing
Darkness kindled back into beginning
When the caught tongue nodded blind, A star was broken
Into the centuries of the child
Myselves grieve now, and miracles cannot atone.
Forgive Us forgive give us your death that myself the believers May hold it in a great flood
Till the blood shall spurt, And the dust shall sing like a bird
As the grains blow, as your death grows, through our heart.
Crying
Your dying
Cry,
Child beyong cockcrow, by the fire-dwarfed
Street we chant the flying sea in the body bereft.
Love is the last light spoken. Oh
Seed of sons in the loin of the black husk left.
II
I know not whether
Adam or Eve, the dorned holy bullock
Or the white ewe lamb
or the chosen virgin
Laid in her snow
On the altar of London,
Was the first to die
In the cinder of the little skull,
O bride and bride groom
O Adam and Eve together
Lying in the lull
Under the sad breast of the head stone
White as the skeleton
Of the garden of Eden.
I know the legend
Of Adam and Eve is never for a second
Silent in my service
Over the dead infants
Over the one
Child who was priest and servants, Word, singers, and tongue
In the cinder of the little skull,
Who was the serpent's
Night fall and the fruit like a sun,
Man and woman undone,
Beginning crumbled back to darkness
Bare as the nurseries
Of the garden of wilderness.
III
Into the organpipes and steeples
Of the luminous cathedrals,
Into the weathercocks' molten mouths
Rippling in twelve-winded circles, Into the dead clock burning the hour
Over the urn of sabbaths
Over the whirling ditch of daybreak
Over the sun's hovel and the slum of fire
And the golden pavements laid in requiems, Into the cauldrons of the statuary,
Into the bread in a wheatfield of flames,
Into the wine burning like brandy,
The masses of the sea
The masses of the sea under
The masses of the infant-bearing sea
Erupt, fountain, and enter to utter for ever
Glory Glory Glory
The sundering ultimate kingdom of genesis' thunder.
I
II
Todos nós de luto
lamentamos entre ruas queimadas pela morte incessante Uma criança de poucas horas com sua boca escancarada carbonizada no peito negro da sepultura que a mãe cavou, seus braços lavados em chamas.
Começai pelos cantos
Cantai a escuridão acesa de volta ao começo quando a língua presa assentiu cegamente, uma estrela explodiu nos séculos da criança agora todos nós sofremos, e nenhum milagre nos redime.
Perdoai-nos perdoai
Dai-nos a tua morte que nós todos os crentes possamos guardar do grande dilúvio até que o sangue jorre, e a poeira cante como um pássaro enquanto os grãos germinam, enquanto a tua morte cresce, no nosso coração.
Chorando o teu fim
Choro, criança além do canto do galo, na rua repleta de fogo cantamos o mar alado nos despojos do corpo.
O amor é a última luz proferida. Oh semente de filhos no lombo do negro invólucro.
Não sei se Adão ou Eva, o sagrado touro adornado ou a cândida ovelha ou a virgem eleita em sua neve deitada no altar de Londres, foi a primeira a morrer na cinza do pequeno crânio, Ó vós, esposa e esposo Ó Adão e Eva juntos dormindo descansados
III
sob o triste peito da lápide branco como o esqueleto do jardim do Éden.
Sei que a lenda de Adão e Eva não é nem por um segundo silêncio na minha homilia sobre as crianças mortas sobre aquela criança que foi sacerdote e fiéis, palavra, língua e cantores na cinza do pequeno crânio, que era da noite caída a serpente e a fruta como um sol, homem e mulher em pó, devolvidos devagar à escuridão desnudados como os berçários do jardim do deserto.
Dentro dos órgãos e nos campanários das catedrais luminosas, dentro das bocas fundidas dos cataventos ondulando em círculos de doze ventos, Dentro do relógio morto queimando as horas sobre a urna dos sabates sobre a vala rodopiante do amanhecer sobre o casebre do sol e a favela do fogo e os pavimentos dourados dispostos em requiems, dentro das forjas da estatuária, dentro do pão num trigal em chamas, dentro do vinho queimando como conhaque, As massas do mar As massas do mar sob As massas do mar carregando crianças irrompem, como fontes, entram entoando para sempre Glória Glória Glória o derradeiro derruído reino do trovão do génesis.

�� DylanThomasfotografadoporJohnGayemjulhode 1948.©NationalPortraitGallery,London.



�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.©National PortraitGallery,London.

�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.
©NationalPortraitGallery,London.

�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.
©NationalPortraitGallery,London.


Lançamento na Galeria Solar
LIVRO RUNNING AWAY
Fotografia Mário Macedo
�� Layout:CarlosLobo;comMárioMacedo(aocentro)e AndréGuiomar.CoediçãoLEBOP,ÉditionsLocoe OlhardeUlisses.500cópias,112pp.de200x280mm. lebopbooks.com/Running-Away-Into-You







VER PARA SER VISTO
Texto
Luís Almeida
Fazer um filme não é fácil. Desde a concepção da ideia, preparar o projeto, escrever o guião, procurar financiamento, começar a pré-produção, produzir, pós-produzir e finalmente lançar e distribuir. Fazer um filme não é fácil e, por isso, é um trabalho de amor. É preciso gostar muito “disto” para estarmos dispostos a fazer sacrifícios, e vermos o que foi idealizado finalmente terminado. O meu amor por cinema e televisão começa nos anos 2000, quando ainda era possível ir ao videoclube alugar um filme, e ir ao cinema era verdadeiramente um momento especial. Nessa altura, aliás até ser adulto, nunca pensei que pudesse fazer dos filmes a minha profissão. A ideia de um dia conseguir fazer um filme era demasiado longínqua, de outro continente. Não saberia sequer (poderia sequer?) por onde começar. Porquê? Primeiro, a falta de referências. As únicas pessoas negras como eu a trabalhar em cinema eram os americanos, e para um miúdo filho de imigrantes cabo-verdianos, nascido e criado em Lisboa, a ideia de ir para os Estados Unidos da América para ser realizador era tão louca como colocar os pés na lua. A falta de exemplos torna-nos imóveis, sem referências não sabemos o que é possível alcançar. Segundo, a dificuldade de acesso à informação. Como é que se explica a um jovem da periferia de Lisboa, que a única forma dele poder fazer filmes é entrar numa universidade que lhe cria barreiras adicionais àquelas já impostas pelo resto do percurso académico e pelo seu ambiente? E como é que esse jovem explica à sua família imigrante que o dia-a-dia de sacrifício não terá salvado a geração seguinte que, na figura do jovem filho, se entrega à precariedade de artista?
Entendo a ideia de estarmos a formar quem realmente quer aprender esta arte e de facto tem algum talento para tal, mas ao mesmo tempo estamos a alienar uma franja da sociedade que já começa com desvantagens claras. Parece-me imperativo mostrar a estes jovens que os seus interesses são válidos, existe uma profissão para eles na indústria e o seu caminho passa por determinada formação, que está disposta a recebê-los. Estamos assim a formar novas vozes capazes de criar histórias diferentes e a criar uma paisagem artística mais diversa e interessante.
Financiar um projeto é um processo difícil, as barreiras são muitas e o caminho é acidentado, é preciso errar várias vezes até acertar. Um jovem criador nem sempre vai ter as ferramentas necessárias para se dedicar devidamente a esse processo, e o mais provável é estarem projetos incríveis em gavetas porque os seus criadores nem sabem por onde começar. E com isto não estou a dizer que devemos financiar tudo, acho apenas importante termos a consciência de que o processo não é (nem sempre é, para suavizar)

humano, não pensa no contexto em que os projetos são pensados, ou no potencial que poderá ter fora da esfera óbvia. Nem sempre estes criadores têm o conhecimento necessário para entender o que implica uma candidatura de financiamento. Eu tenho a certeza que não tinha. Todos os projectos que realizei, realizei com muita sorte, e rodeado de pessoas incríveis que estavam dispostas a esgravatar o terreno para conseguirmos descobrir o necessário para colocar os projectos de pé. Nesse sentido sou um privilegiado. Estar rodeado das pessoas certas é um factor fundamental para alcançarmos os nossos objetivos. Mas naturalmente nem toda a gente tem à sua disposição as ferramentas necessárias para realizar um projecto, a disponibilidade mental e financeira para dedicar anos a trabalhar em algo, que pode nunca ser financiado. Portanto, criar ainda mais barreiras para aquilo que já é naturalmente difícil, parece-me que apenas faz com que a indústria se limite a si própria. O gatekeeping cria uma câmara de eco, que fala para si própria, alienando os novos artistas e o público, eliminando a renovação natural do meio. Ainda trabalho para fazer a minha primeira longa-metragem. Estou agora em processo de realizar o meu segundo grande projeto, que se alicerça na primeira resposta geradora do problema e depois da solução: criar referências, tanto para mim como para as novas gerações. Dar a conhecer novas vozes, valida todos os miúdos, que como eu, não querem ser jogadores de futebol ou cantores, querem fazer outras coisas. Espero que desta forma, com este projeto e os próximos, possa inspirar e mostrar um caminho claro para uma próxima geração que possa mudar o paradigma, contar as suas histórias, ser visto e ouvido. A mudança já começou, já existem artistas a criar essa diversidade e a mudança é inevitável. Mas também nos cabe a nós, os que já cá estamos, criar as bases certas para os próximos, criar para nós, sobre nós, sobre toda a nossa diversidade. Não devemos, em resposta ao sistema vigente, criar a nossa própria câmara de eco, e viver fechados em nós próprios, evitando criar arte que fale para toda a gente, que se coloca em bicos dos pés achando-se superior a outro tipo de obras. Evitando nós próprios o gatekeeping, seja de público seja para novos artistas, estamos a criar um ambiente propício ao crescimento, à diversidade e à possibilidade de conseguirmos todos viver dessa coisa de que tanto gostamos, contar histórias. Fazer filmes. ��
�� LuísAlmeidaduranteasessãodeapresentaçãode NovasNarrativasdeCaça,projetodesérie seleccionadoparaa8.ªediçãodoeventoConecta Fiction&Entertainment,emEspanha,nacidadede Toledo,a19dejunhode2024.

De Annecy, com amor e leitura política à vitória de Alexandra Ramires (Xá) e Laura Gonçalves
COM AS CRIADORAS
E A AGÊNCIA –PORTUGUESE SHORT FILM AGENCY: PERCEBES
A IMPORTÂNCIA DO CRISTAL DU COURT MÉTRAGE NO MAIOR FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION
FotografiasemAnnecy(França)
Joaquim Pedro Pinheiro, G. Piel



AlexandraRamires(Xá),DavidDoutel,LauraGonçalveseVascoSá.OsprodutoresdaBAP,estúdiodeanimaçãofundadoem2011na produtora,que«temcomoprincipalobjectivofuncionarcomoumcolectivoderealizadores»,BandoàParte,comsedeemGuimarães.
��


�� Percebes(AlexandraRamireseLauraGonçalves, Portugal/França,2024).

PERCEBES?
Texto José Machado
Creio que a maioria das leitoras e dos leitores da gray-film vivem fora de Portugal. Muitas e muitos não serão eleitoras portuguesas nem eleitores portugueses e, com este parlapiê do género binário obsoleto, empregue também por políticos manhosos, as portuguesas e os portugueses sabem, mas a maioria que me lê, talvez não: e por isso segue-se uma contextualização abreviada. Com uma única câmara parlamentar em Portugal, após duas legislaturas interrompidas e a convocação de eleições antecipadas para a Assembleia da República (a 30 de janeiro de 2022 e 10 de março de 2024), um recente partido político passou de terceira força (com menos de 14 mil votos) para o partido mais votado, acima dos 61 mil, entre os eleitores no estrangeiro (leiase, fora de Portugal). Esse partido foi o vencedor no círculo da Europa, mas apenas foi o mais votado no Luxemburgo e, sobretudo, com maior expressão da Suíça (em todos os cantões onde há consulados: Berna, Genebra e Zurique). Em sentido contrário, a maioria da população nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e de Portugal Continental não foi seduzida pelo discurso populista, porém, se o país fosse apenas a região mais a sul, o Presidente da República teria convidado esse partido populista da família da extrema-direita a formar um governo de nacionalismo bafiento e demagógico. Na região do mê Algarve, de 1 deputado e 12,30% (pouco menos de 24 mil votos), em pouco mais de dois anos entre duas eleições, o profético-que-
Chega passou a eleger 3 deputados no distrito de Faro, com 27,19% (mais de 64 mil votos) e se tornou no mais votado, se percorrermos do Sotavento para o Barlavento: Almancil, Quarteira, Boliqueime, Conceição de Faro/Estoi, Pechão, Quelfes, Moncarapacho/Fuzeta, Monte Gordo, Castro Marim, Silves, São Bartolomeu de Messines, Alcantarilha/Pêra, Armação de Pêra, Algoz/ Tunes, Lagoa/Carvoeiro, Porches, Estômbar/Parchal, Luz de Lagos, Odiáxere e em todas as freguesias dos concelhos de Albufeira e de Portimão, dos 16 onde este partido recente foi maioritário.
Dos 50 (como vimos, 3 eleitos pelo Algarve, entre 230) deputados, todos têm a validade de 4 anos, no máximo, de uma legislatura, apenas por em Portugal ainda se viver em democracia. Em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, não estamos a ouvir as populações abandonadas ao longo de décadas, expulsas pela gentrificação em curso, a proteção afastadas do território desprotegido que está a ser comprado por exorbitâncias em lavagem de dinheiro, de entrada fácil, dos Vistos Gold para a conta dos facilitadores instalados, antigos descendentes de aristocratas falidos, capitalistas sem capital, e o que entra no financiamento partidário, como no imobiliário (sem usufruto muitas vezes, desabitadas) anda em círculo, mas não roda por quem não tem casa para viver e não há sítio onde se consiga alugar, vítimas da gentrificação. Como ninguém tem soluções para o imediato, os populistas lançam a verborreia xenófoba no discurso político sem crédito que é acolhido por quem se sente esbulhado e escorraçado. Os retrocessos que observamos na Europa não serão sazonais, como o fluxo de turistas que vão e chegam com a algaraviada (de algaravia). Não os understands quem, pela manhã, com um olhar de soslaio e hospitalidade de Alojamento Local, lhes abre a porta (se é que há alguém para o fazer) e não lhes pode chamar vizinhos (de curta duração) quem não consegue encontrar lugar onde dormir e faz mais turnos. Os empregadores dizem que não há mão-de-obra suficiente para o sector turístico e para trabalhar aí se não consegue custear um quarto. E quem não consegue dormir anda malparado, nem consegue ouvir o que se diz: há pra ali (um programador que está a fazer) um trabalho incrível que merece ser visto… Quanto mais pedir que prosemos e apropriemo-nos de interesses que ainda não descobrimos, mas são estes, bonificados e sem juros, a título de empréstimo, interesses culturais, os que nos salvam.
De viva voz, na apanha de Percebes (Alexandra Ramires [Xá] e Laura Gonçalves, Portugal/França, 2024), com a ondulação cíclica dos extremismos, escorrega da rocha, caí ao mar, não tem pé e é tudo muito rápido e vai ao fundo, mas não perderá o fólego ao nadar para fora da rebentação: a democracia não pode morrer na praia (como do outro lado do areal, preservem a Ria Formosa para as gerações vindouras, nada está adquirido). Precisamos de políticas públicas que tratem as pessoas com os cuidados que a Agência da Curta Metragem põe na difusão de Percebes, prémio Cristal du court métrage do Festival International du Film d' Animation, em Annecy, neste ano em que Portugal foi o foco do Marché International du Film d’Animation (MIFA).
— O que é que nos faz falta? — Enricar: «enriquecer. Foi este o termo usado pelo pescador de Olhão, quando no cinema ficou farto das letras de introdução dum filme: Lêtraze, lêtraze, figúraze denhúmaze! é assim que êl’ze enriquem!» in Dicionário do Falar Algarvio (Eduardo Brazão Gonçalves, Algarve em Foco Editora, 2.ª edição aumentada, 1996). ��

�� Capadolivro«EuropeanCinemaintheStreaming Era»,dasérie«PalgraveEuropeanFilmandMedia Studies»,ediçãoPalgraveMacmillan(2024).
�� LuisA.Albornoz,ChristopherMeir,JosetxoCerdán eRoderikCharlesSmits,nolançamentodolivrono dia25dejunho,emMadrid,noCineDoré.Fotografia deJoséMachado.


«European Cinema in the Streaming Era» é uma coletânea de textos muito importante, que se centra sobre um tema fundamental da atualidade: o que está a acontecer ao cinema europeu na época das plataformas? Porque reúne textos de investigadores de países tão diferentes, ou a trabalhar em contextos tão diferentes, o livro é muito rico, e será apelativo para públicos muito diversos. O meu capítulo, por exemplo, que é sobre o caso português, e sobre as alterações feitas recentemente à lei do cinema, ganha muito em estar entre capítulos sobre França e o Reino Unido. A diversidade do cinema europeu continua a ser uma das suas maiores riquezas, e esta coletânea espelha isso mesmo. ~ Mariana Liz


Madrid, 25 de junho, apontei na agenda: European Cinema in the Streaming Era. O salão de entrada para a sala principal do Cine Doré, o espaço mais nobre, de acesso público, da Filmoteca Espanhola é digno para receber o evento de lançamento de um livro académico, por si só um acontecimento, com a enorme qualidade do trabalho pioneiro de investigadores que acompanho há década e meia. Têm muito valor e o conhecimento que transmitem só é possível de reunir com a aproximação que mantêm a uma indústria onde os gatekeepers da denominada «era» só não omitem o que não querem. Na última apresentação pública de uma colaboração entre os editores Christopher Meir e Roderik Charles Smits que, depois do percurso que deixou marca em universidades no Reino Unido, na Alemanha e em Espanha, Smits despede-se de Madrid com a família para Amesterdão. Os editores têm também o mérito de reunirem contributos de investigadores, de que destaco
Recensão
José Machado
o grupo de investigação Diversidad Audiovisual (UC3M), com o capítulo de Luis A. Albornoz e Pedro Gallo, Global SVOD Services in Spain: The Availability and Prominence of Spanish Films and Other Audiovisual Works, presentes no lançamento.
A obra adensa-se nas janelas de exploração comercial tradicionais do audiovisual, dos canais televisivos vs. streaming, descurando nos operadores de cabo que agregam conteúdos de entretenimento e angariam anunciantes e das alterações na repartição do bolo publicitário. É por isso, que da introdução, à pergunta, como podem os filmes europeus take advantage dos serviços de streaming? – à formulação de uma outra, que das realidades diferentes do que foi um videoclube e do que se perdeu, nos relato das exibição, na experiência coletiva que é ver cinema numa sala com público: qual é hoje a percepção social do cinema?
A introdução expressa a convicção de um longo futuro para o cinema europeu (the European cinema remains a vital artistic and cultural formation with a long future ahead of it), mas se vivemos os primeiros anos da década em que os serviços de video on demand (em que dominam os norte-americanos) estão regulados na Europa – felizmente! – é nas políticas e na implementação da diretiva europeia AVMS (Audiovisual Media Services) por cada estadomembro, que esta colectânea se torna o livro fundamental sobre o tema, sobretudo na escrita de Mariana Liz (com quem trabalhei no XXII Governo Constitucional, procurei fazer a análise mais isenta).
Com propriedade, falará de alto nessa streaming era quem quiser convencer um fundo especulativo a investir em mais um SVOD, com uma escolha desfocada (a do título do livro). A multiplicação de plataformas VOD, uma manada de elefantes brancos, não tem correspondência com a procura nem é sinónimo de viabilidade: sobrevoo rasteiro de executivos abutres com lideranças temporárias que, de fiasco em fiasco, do reino animal aos reality shows do canal Discovery, na fusão com a engolida Warner (2021), perdeu a HBO. Os executivos atacam críticos nas redes sociais à tentativa de fusão no ano passado com a Paramount, os lugares-comuns do CEO (David Zaslav). Entre mamíferos, so let's do it like they do on the Discovery Channel, sanguessugas para sobreviver fusionam e despedem equipas competentes, aumentam o preço ao consumidor para convencer, no imediato, investidores pragmáticos; mais do que o lucro, interessa-lhe vender a posição accionista com um enorme benefício. Uns fundos entram e saem; umas plataformas fecham, da Aereo (2012) à Venu Sports (2024) da ESPN (Disney), Warner Bros. Discovery e Fox (or whoever wants to invest in an anti-cable bundle lawsuit). Os capitalistas em jogo não põem as fichas todas na mesma grelha de apostas. O croupier não sabe como, mas a bola da roleta saiu disparada do e atingiu em cheio o olho de quem se arrisca a nunca mais poder ver cinema independente em sala. Dano colateral? O móbil do crime, melhor traduzido, o assassínio, foi cometido com intenção. Murder! — este episódio, poderia ser explicado em Crime, Disse Ela (Murder, She Wrote, 1984-1996), mas se é para gritar uma era, aparentemente se poderia encapsular à data de hoje os rótulos da era de um dos seus criadores, Peter S. Fischer (1935-2023) ou ainda a era da atriz que popularizou a série, Angela Lansbury (1925-2022) nas 12 temporadas televisivas da personagem, escritora de policiais, reconhecida, que ajudava a solucionar crimes, quando a evidência não era recolhida na peritagem científica.
Após o deslumbramento que nem uma década perdura (Netflix só chegou a Itália, Espanha e Portugal em outubro de 2015), morreram mais plataformas que cineastas a lamentar. Só não houve acalmia nesses serviços. Depois veio uma pandemia e a transmissão, por essa via foi uma necessidade colectiva, em isolamento. Seria prudente não baixar da nuvem o espírito do vidente e chamar ao período que vivemos a «era do streaming». São, seguramente, os anos da adesão à realidade e da subscription fatigue. Queriam streaming, era? Queria, já não o quer? Nem sequer telenovela, nem o futebol embrulhado num bouquet, agregado para toda a família, na idade das plataformas maxambetas e dos plus+ a mais e dos players que vierem e vão ficar pelo caminho? Não sei. Ouve-se tanta coisa dita por dizer e, também, que «muita gente acha que isto já não volta atrás», mas o achismo mercadológico não é argumento. É, no entanto previsível que continuem a surgir mais plataformas de alegados serviços de streaming dedicados a um nicho, crescente, que é o das burlas online. Plataformas criadas para extorquir dados pessoais aos consumidores/vítimas e estas serão as plataformas viáveis, com o único objetivo de manipularem quem só quer ver um vídeo, naquele momento, de uma compra por impulso, mas em que o perfil de consumo fica fidelizado à estafa. Excluíndo o visionamento de sites de pornografia que não entra para esta estatística, o serviço de streaming mais consumido, o YouTube, mantém-se popular por não ter subscrição obrigatória. Uma qualquer outra assinatura de ocasião, paga, através de um serviço que em Portugal tem uma enorme adesão, MBWay (e futuros concorrentes a disputarem os micropagamentos) com um número de cartão de crédito virtual, gerado no instante para uma única compra e que pode ser definido para durar um só mês, sem preocupações de cancelar a renovação da plataforma a tempo, que ao fim do mês expira quem apenas quis ver algo no mês anterior, subscription fatigue… Não atribuirá mais valor a um espaço físico (e não me refiro a idas a centros comerciais, utilitários, para refeições a correr), à casa do cinema eleita, a que sempre regressamos?
Posterizar uma «era do streaming» para grampar estes últimos anos às próximas décadas é, além de inadequada, uma expressão sensacionalista e empertigada (no prefácio, Ramon Lobato intitula o livro Streaming European Cinema, porventura o inicial e assertivo). Se servir de metáfora, esta revista publicada digitalmente não significa que novas revistas digitais e que a representatividade do conjunto das publicações que optaram por esta distribuição possa definir uma era. Pelo contrário, o objeto revista, impressa e com qualidade gráfica, passou a ser valorizado, debatido e aprimorado. No cinema europeu, os filmes pensados para grande ecrã não encontram as salas de rua que possam exibi-los. A sociedade deve lutar pela existência de programadores e, as comunidades locais, pela sala de cinema do bairro, municipal ou privada, mas com uma programadora contratada, remunerada, como profissão que é preciso valorizar. A programadora que gostaríamos que fosse leitora da gray-film. E escrevo na esperança que, se menciono o género feminino, não acicate eventuais reacções à volta do determinismo instituído nesta era. Será mais, da botânica à dermatologia, se a causa da urticária é da planta trepadeira que atrapa e ata o mascismo que não definha desde Hera no monte Olimpo. Era, e é, esta que vivemos, a era das mulheres. ��

�� Cartazda10.ªediçãodoGuiões–FestivaldoRoteirode LínguaPortuguesa,comotemaOFuturoéfeminino, quedecorreuentre11e15desetembrode2024,em LisboanoCinemaSãoJorge,emparceriacomofestival MOTELXefrutodapersistênciadeLuísCamposede AnaAlmeida.

�� CartazdeElasFazemFilmes,mostradecinemafeito pormulheresemPortugal,iniciativadaAssociação MUTIM–MulheresTrabalhadorasdasImagensem Movimento.


Memória de Ayres d’Aguiar, n. 1896




�� OjornalistamicaelenseJoãoMachadodeFariaeMaya (1846–1915),avômaternodeAyresd’Aguiar.FONTE: ICPD/ColeçãoFotográficaDigital:PT/ICPD/CFD.00747





�� OmicaelenseAlfredoEzraBensaude(1856–1941), fundadorem1911doInstitutoSuperiorTécnico (Lisboa),quedirigiuaté1920.CORTESIA:IST
�� [1]abençoadoseja,queégraçasaestehistoriador queasmemóriasdeAyresd’Aguiarseencontram depositadasdesde1990noCentrodeDocumentação daCinematecaPortuguesa.AmândioAlvesVideira Santosfoitambémautordeobrasfundamentaissobre ocinemaprimitivo,colaboradordejornais,radialistae divulgadordecinemanaEmissoraNacional,assistente derealização(em«SalSemMar»,FernandoDuarte, 1959),ajudouafundarpublicaçõescinematográficas, queilustrouefoidelegadoemLisboadaVisor,uma dasrevistasquenascedosfundadoresdoCineclube deRioMaior,omunicípioaoqualdooumaisdedois millivros.Nadocumentaçãoexistente(ainda)surge comoumanotaderodapé,masoseutrabalhoem proldocinemamerecedestaqueedivulgação.Parao conhecimentopúblicodotrabalhodeAmândioAlves VideiraSantos,agradece-seoenviodecontributos paraoendereço:memoria.videirasantos@gray-film.eu
�� [2]daleituradeFilomenaMaronaBeja(1944–2023)na obradeficção«ADuraçãodosCrepúsculos» (D.Quixote,2006)quededicoua«todososqueme levaramainventarasverdadesdestelivro»,quelie reli(eempresteiaomeuamigoLuísGalvãoTeles,que jáseencontravaaestruturaroprojetodecoprodução paraumdocumentário,sobreoqualnadaseietenho amaiorcuriosidade).
QUEM DEU NOME À GRAY-FILM?
Edição
José Machado


Paris, abril de 1925.


Relato da constituição de uma sociedade comercial registada em Paris e quotizada por Renée [Marthe Albertine] Vallée (1884–1944) com 20.000 francos e Virgínia [Folque] de Castro e Almeida [Pimentel Sequeira e Abreu] (1874–1945) com 10.000 francos.
Ponta Delgada, abril de 1985.
O cofundador da sociedade e seu gerente, Ayres [de Faria e Maya] d’Aguiar (1896–2000), com nove décadas de vida, termina de escrever Memórias dos meus tempos de cinema e remete-as ao historiador Amândio Alves Videira Santos [1, vide página anterior].
A caminho do centenário da gray-film, confrontei fontes, transcrevi um primeiro excerto e acrescentei informação de contexto entre parênteses rectos; os curvos para datas; e nomes próprios a negrito, à primeira menção, com a grafia uniformizada e corrigida. A deferência no trato pessoal – Mademoiselle (com mais de uma década de idade) ou Senhora Dona (com mais de duas) – grafada em itálico sinaliza lembranças da oralidade secular, escutadas e reproduzidas por Ayres d’Aguiar, mas dactilografadas após seis décadas.
Uma leitura, diferente [2, vide página anterior], Senhoras e Mademoiselles, na cosmopolita Europa, machista e patriarcal (também nas imposições de pai para filho) de uma engrenagem geracional rotinizada e opressora entre as duas Grandes Guerras do século XX. Um açoriano de excepção que trabalhou com mulheres ainda mais excepcionais na globalização da competitiva exploração comercial cinematográfica há um século!
Escreveu Ayres d’Aguiar:
Terminado o meu curso no [Instituto Superior] Técnico [em Lisboa], segui para São Miguel – cerca de começos de julho de 1920 – e lá comecei a trabalhar na firma de meu Pai.

[O pai de Ayres d’Aguiar, Luís Maria de Aguiar (1863–1928), foi comerciante em Ponta Delgada, primeiro como empregado, caixeiro de comércio, e, mais tarde, em 1912, único sócio e gerente da sua casa comercial de Domingos Dias Machado; comandatário da Companhia de Navegação Eiffe & Birgfield; presidiu à Associação Comercial de Ponta Delgada (1921–1922) e, também em S. Miguel, foi Cônsul do Chile e Vice-Cônsul da República Dominicana.]
Instalação duma torrefação de café, construção dum granel com vigamento especialmente calculado para poder armazenar (em 3 andares) mais de 3 metros de altura de fava por piso (a fava e o milho eram objeto então de grande exportação para alimento dos muares do tráfego de cargas em Lisboa e Porto), reconstrução de uma velha casa, destilação e redistilação de aguardentes para vir a produzir um produto comparável a um bom conhaque (que deixei a envelhecer num grande tonel), etc. etc.
Da base naval americana que tinha utilizado o nosso porto nos fins da guerra de (19)14/18, ficara em Ponta Delgada um Consulado americano de certa importância: dois Vice Cônsules, um Cônsul (e sua esposa) com os quais tinha travado laços de grande amizade. Tinham-me adotado e insistiam para que lá fosse jantar e jogar o bridge pelo menos umas duas vezes por semana. Meses depois começou Mr. [Drew] Linard – [entre 1919 e 1923] o Cônsul Geral – a insistir comigo, dizendo que, a minha vida, eu devia fazê-la na América. Que ele lá tinha relações de importância e estava certo que eu viria a fazer grande carreira nos Estados Unidos. De começo julguei que fosse simples amabilidade da sua parte mas, repetindo-se a conversa por várias vezes em perto de dois anos de convivência, acabou por me convencer a aceitar a ideia, e anunciei a meu Pai a próxima partida. Recebeu friamente a minha decisão. Ficou certamente indisposto, mas não o discutiu. Conhecendo o seu carácter e o seu modo de pensar, estou certo de julgar ele que depois de eu ter passado fome lá por fora, voltaria para a Ilha desiludido, aqui casaria, e retomaria o meu lugar na firma.
Na minha ideia, ao partir para a América nunca de lá voltaria antes de ter dado boa conta de mim. O que não conseguiria certamente senão muitos anos depois. Decidi, pois, vir primeiro a Lisboa para me despedir de tantos amigos que lá criara, tanto no Técnico como por fora e também entre os meus camaradas de guerra.
Saí da Ilha em outubro de 1922 e, mal o barco acostou em Lisboa, tive logo o prazer de ver entrar a bordo o meu grande e velho amigo José Bensaude (1893–1992) [filho de Alfredo Ezra Bensaude (1856–1941) e Jeanne Eleonore (Jane) Oulman Bensaude]. Logo trocadas as primeiras palavras, ele diz-me:
— Calha-me lindamente a tua vinda. Eu e o Albert abrimos agora uma sucursal no Porto, e preciso que lá venhas por uns dias dar-me uma ajuda.
Ele e o primo Albert [Emile José Bensaude] Oulman (1889–1979) [filho do parisiense Camille Alphonse Oulman (1854–1916) e da micaelense Ester Bensaude (1864–1965) e pai de Alain Oulman, que viria a nascer 5 anos depois deste regresso de Ayres a Lisboa], entre outros negócios, eram os agentes da Arbed, grande Sociedade Metalúrgica, da Bélgica? Tinham decidido abrir a tal sucursal onde contavam fornecer muitas toneladas de arco de pipa aos tanoeiros daquela tão importante região vinícola. Sem motivo imediato que me retivesse em Lisboa, lá segui com ele para o norte. Tinham também ligação com a Companhia de Navegação dinamarquesa East Asiatic, e poucos dias depois chegava-lhes ao Porto em consignação, um barco carregado de arroz proveniente da Indochina trazendo alguns passageiros de quem tive também que me ocupar. Vinha entre estes uma bonita dinamarquesa que em instâncias de divórcio regressava ao seu país, e foi minha missão igualmente distraíla um pouco durante os dois ou três dias da permanência do barco.
Poucos dias depois vou passar um fim de semana em Lisboa. No Maxim’s, restaurante com dança, sala de jogo, etc. funcionando no Palácio Foz, lá encontrei por acaso os meus antigos amigos Luís Manuel [de Castro e Almeida da Mota Prego] (1897–1982) e José Lopo [de Castro e Almeida da Mota Prego] (1898–1956), filhos da escritora Senhora Dona Virgínia [Folque] de Castro e Almeida [Pimentel Sequeira e Abreu] (1874–1945) que muito bem tinha conhecido nos meus dois últimos anos do Técnico – tanto a Mãe como os filhos –. Acabavam de chegar de Paris, e contaram-me que, com técnicos e artistas franceses, a Mãe tinha produzido um filme em Portugal, a Sereia de Pedra (Sirène de pierre, 1922). Terminada a produção tinham ido a Paris apresentar o filme a um conjunto de convidados e grande número de críticos cinematográficos, tendo o mesmo feito um grande sucesso. As perspectivas eram tão brilhantes que – afora Portugal e Brasil – o encarregado das vendas calculava que estas iriam produzir três vezes o custo de produção. Em vista do que tinha sido contratado novamente o mesmo metteur en scène, os mesmos técnicos, e, com um grupo de artistas franceses, estavam todos agora em Lisboa para a produção de um novo filme. Tendo enorme admiração pela Mãe (que tratavam por – Gi –, e era assim que Dona Virgínia de Castro era familiarmente conhecida por todas as pessoas amigas), telefonaram-me no dia seguinte a dizer-me que a Gi me pedia para ir vê-la.

�� VirgíniadeCastroeAlmeidanaediçãodaIllustração Portugueza,n.º230,de18dejulhode1910.
Confirmou-me ela tudo o que os filhos me tinham dito e queria fazer-me um pedido: Ir eu ao Rio e lá negociar a venda para o Brasil. Recebi a proposição com grande surpresa, fazendo-lhe observar que nada entendia em matéria de filmes. Ao que me respondeu que bem o calculava, mas que todos os profissionais na matéria a iriam roubar, que tinha muito mais confiança em mim para o fazer, e desde já desejaria confiar-me uma cópia do filme pedindo-me que, no entretanto, tratasse da venda do mesmo para Portugal. Desejando ser-lhe agradável, comecei por estudar o assunto, tendo ao fim de alguns dias podido verificar ser impossível encontrar comprador. Cheguei portanto à conclusão que a única solução seria confiá-lo a uma casa séria de distribuição aos cinemas do país mediante percentagem sobre as receitas que poderiam tirar da exploração do filme.

O distribuidor que me parecia mais indicado, era um Senhor Salomão Levy [Júnior] (1875–1945), homem sério, proprietário do Olympia [em Lisboa] e outros cinemas.
Com o pleno acordo da produtora, assim acabou a minha primeira missão e, quanto à partida para o Brasil, aguardava-se para as despesas de viagem a chegada do produto das vendas que deviam estar sendo feitas em Paris.
A filmagem tinha já começado na Nazaré, mas de França não vinha nem dinheiro nem mesmo resposta às cartas insistentes dirigidas ao encarregado das vendas. Em vista do quê, a Gi resolveu ir a Paris ver o que se passava, e pedia-me que a acompanhasse.
Lá chegámos a 13 de janeiro de 1923, encontrando na estação do comboio à nossa espera, uma Senhora – Mademoiselle Renée [Marthe Albertine] Vallée (1884–1944) – que a Gi conhecera em casa da Marquesa de Valle Flôr [cerca de três décadas depois, meio ano antes de morrer, viria a criar uma instituição privada de utilidade pública, o Instituto Marquês de Valle Flôr, a
�� CinemaOlympia.FotografiadeJoshuaBenoliel. Afixado,todasasnoites,«AmordePríncipe» («Graustark»,DmitriyBukhovetskiy,E.U.A.,1925).
CORTESIA:ArquivoMunicipaldeLisboa.
D. Maria do Carmo Dias Constantino Ferreira Pinto] (1872–1952) e com quem [a Gi] se ligara de amizade. Alertada por carta, tinha-se ela encontrado com o encarregado das vendas, e averiguara que ele nada tinha podido vender. Foi então que Mademoiselle Vallée me confiou o que se tinha passado, e da malograda realidade do presente.
A Gi, levada provavelmente por algum jornalista que a conhecera, fundara anteriormente um Prix de Castro, destinado a premiar o melhor filme francês do ano, a ajuizar por um júri constituído pelos principais jornalistas parisienses críticos de cinema. Donde lhe viera renome entre os mesmos, que entenderam recompensá-la com artigos brilhantes quando da tal apresentação da Sirène de pierre (Sereia de Pedra, 1922).

Pouco depois desta, a produtora era contactada pelo crítico cinematográfico do principal jornal francês – Le Temps –, o qual tendo feito igualmente um excelente artigo, se propunha para promover as vendas, tanto em França como em vários outros países. Indicando por carta o que estava certo [que] iria obter, representavam os preços indicados – sem Portugal e Brasil –, bem mais de duas vezes o que o filme tinha custado.
Como que embriagada pelo seu sucesso, agora pelas perspectivas das vendas, sem a menor reflexão, confiava-lhe a Gi a venda do mesmo. E sem esperar a mínima concretização do começo das miríficas vendas prometidas, contratava desde logo o mesmo metteur en scène, os mesmos técnicos, um conjunto de artistas, e em começos de novembro de 1922, todos tinham seguido para Lisboa a produzir um novo filme, a extrair de uma sua novela, Os Olhos da Alma.
Agora em Paris (em janeiro de 1923), tendo ela compreendido a sua ingenuidade, a sua inexperiência em matéria de negociações desta natureza, conseguiu retirar do tal homem todo o material de venda, pedindo-me para lá ficar e tratar eu mesmo de todas as possíveis negociações e vender o filme pelo melhor, tanto para França como para todos os países possíveis.
Sem nada conseguir doutro, com muita coragem, voltou a Gi para Lisboa para lá ver como poderia financiar esta nova produção em que tão imprudentemente se metera. Comecei logo a ver o que seria possível fazer. Vender o filme para França mostrou-se uma realização impossível.
Ajudado por Mademoiselle Renée Vallée, com as latas contendo o filme debaixo do braço, metemo-nos a contactar os distribuidores franceses de maior importância, e acabámos por interessar uma firma distribuidora de menor nome – [Paul] Kastor (1867–1938) et [François] Lallemand (1877–1965) – de que tivéramos boas referências, e que aceitaram distribuir o filme mediante percentagem normal das receitas.


[Os dois sócios, Kastor e Lallemand, a 15 de novembro de 1921 perderam um terceiro, Maurice Astaix (1878–1945) na Agence Générale Cinématographique, fundada em 1910, em Paris no n.º 16 da Rue de la Grange Batelière; a 15 de novembro de 1921, a sociedade passa para o n.º 12 da Rue Gaillon. Astaix e Lallemand vinham de uma sociedade anterior, que durou entre 1904 e 1907, Américain Kinetograph em que haviam perdido um outro sócio, Théophile Michault (1870–1940). Cinco anos após terem sido contactados por Renée e Ayres, os sócios Kastor e Lallemand foram nomeados, respectivamente, secretário-geral honorário e tesoureiro honorário do Bureau de la Chambre syndicale française de la Cinématograhie, em 1928.]

�� Destegrupodepioneiroseempresários,PaulKastor foioprimeiroamorrer(nodia27demarçode1938). Omensário«LeCinéopse»publicouumanotade pesar,quandofechavaaediçãodeabril(n.º224).
�� PaulKastoreFrançoisLallemand.




�� LopesFreire(grafadofrequentementeLópezFreire), umdosirmãos,RaúleAugusto,muitoativosna produção,vendadeequipamentos,distribuiçãoena exibiçãocinematográficaeumoutrorepresentantede Portugal,Ayresd’Aguiar,assimcomoPaulKastor, tambémestiverampresentesnoCongresso Internacional,comoseconstatanosagradecimentos dodiscursodeLéonBrézillon,presidentedo«Syndicat FrançaisdesDirecteursdeCinématographes», transcritosnoperiódico«LeCinéopse»n.º51,de1de novembrode1923.Oreferidocongressofoi organizadocomopatrocínio«delaChambre Syndicale,delaPresseCinématographiqueetdela SociétédesAuteursdeFilms».
Instalados modestamente (166 Rue Montmartre) num pequeno quarto-escritório alugado a Madame [A.] Millo, editora do anuário Le Tout-Cinéma e do semanário L’Hebdo [Hebdo-Film], dirigido pelo simpático jornalista Mr. [Clément] Guilhamou, com papel de carta sob o nome de Fortuna Films (tal era em França o título de produção dos filmes da Gi), procurávamos descobrir compradores de países estrangeiros, e lá íamos conseguindo algumas pequenas vendas. Na realidade, o filme não suscitava grande interesse.






�� Notadoeditor:paraaatividadedeagentedevendas internacional,um«LeTout-Cinéma,Annuairegénéral illustrédumondecinématographique»erapreciosohá umséculo;preçodecapa:30francosparaFrança(35 paraoestrangeiro)quandocomeçaaserpublicado, em1922,com640páginas,naeditora«Publications Filma»situadanon.º3daBoulevarddesCapucines; anúnciosnaimprensaespecializada,paraaediçãode 1923,amoradaéon.º166daRueMontmartre.No anuáriotodooespaçoserveapublicidade:lombada, capa,contracapa,corteseseparadores(maistarde,na antologiada«LaCinématographieFrançaise»).Para nãoserconfundidocomtítuloshomónimos,ocitado «L’Hebdo»é«Hebdo-Film»,revueindépendanteet impartialedelaproductioncinématographique»(4de marçode1916–1935,quenosanosfinaissobrepunha tipograficamenteHebdoaHebdo-Film).Ayreschamou «semanárioL’Hebdo»aoquinzenário«Filma»(1908), comasegundavidadotítulo,1917–1936,daA.Millo)?
ClémentGuilhamoutambémaídirigiuoanuário«Le Tout-Cinéma»,masnuncafoicreditadocomodiretor darevista«Hebdo-Film»emdezenasdenúmerosque consultei;háreferênciasdeegoeatésecorresponde comoseudiretor,AndrédeReusse(pseudónimode JulesGarnier,citoEmmanuelleChampomier).Non.º2 (1916)da«Hebdo-Film»,alémdeGuilhamou,também RogerLionveioàbalha.AsmemóriasdeAyres d’Aguiar,datilografadasem1985,contribuempara investigarahistóriadaimprensacinematográfica.
Em Portugal, tendo hipotecado tudo o que lhe restava de uma muito razoável herança paterna [filha de D. Luis Caetano de Castro e Almeida Pimentel de Sequeira e Abreu, 1.º conde de Nova Goa (1840–1914) e neta de D. José Maria de Castro e Almeida Sequeira e Abreu (1779–1851) que fechou um ciclo de três séculos (1550–1855) de permanência desta família na Índia Portuguesa], a Gi conseguira terminar Os Olhos da Alma, e rogava-me que esperasse em Paris o metteur en scène que viria com o negativo e a primeira cópia. Pedia-me para fazer com esta o trabalho de colocação feito com o primeiro. Para viver em Paris durante todos estes meses, limitava-me a retirar das receitas, que conseguia ir obtendo, o mínimo necessário, mas não podia recusar à Gi a continuação dos mesmos serviços. Trabalhava-se então aos sábados como em qualquer outro dia. Nalguns deles, depois de jantar ia por vezes distrair-me um pouco no popular e barato Bal Bullier onde encontrava e podia dançar com midinettes simpáticas e agradáveis, o que aos meus 27 anos era então bem normal.
O metteur en scène [Roger Lion] (1882–1934) chegou por volta de começos de junho, entregou-nos a primeira cópia de Les Yeux de l’Âme (Os Olhos da Alma), e abalou em férias para longe de Paris.
Voltámos então aos nossos conhecidos Kastor et Lallemand a apresentarlhes o novo filme. Mantinhamos de resto contactos frequentes com eles pois seguíamos de perto os resultados da exploração da Sirène de pierre (Sereia de Pedra). Após a projeção da cópia, dizem-nos:
— Tal como está não nos interessa. Refaçam-lhe a montagem e voltem a mostrá-lo, a ver se nos convém.
— Refazer a montagem? O que queria isso dizer? Interrogados os nossos amigos Mme. Millo e Guilhamou disseram-nos no que consistia, mas que era o metteur en scène que sempre o fazia. Tendo este desaparecido, ninguém sabendo onde parava, vendo a nossa consternação, diz o Sr. Guilhamou à Mme. Millo:
— Creio que o [E.-L.] Fouquet (um dos colaboradores de L’Hebdo) já o tem feito também.
Espera-se o Fouquet; chegou enfim mas recusava-se a mexer num filme do seu amigo Roger Lion. Depois de muita insistência, explicada a difícil situação em que nos encontrávamos, acabou por aceitar e partiu com as sete latas da cópia. Uns dias depois vemo-lo chegar trazendo então umas doze! Tinha tentado mas nada tinha podido fazer. E vimos que cortado agora em dúzias de pequenos rolos, enchiam estes as doze latas!
— Recorrer de novo a Roger Lion?
Impossível de o encontrar e, a conselho de Sr. Guilhamou levei tudo ao Laboratório Pathé – onde estava o negativo –, e ajudado por uma empregada colleuse, meti-me a tentar reconstituir a antiga cópia.
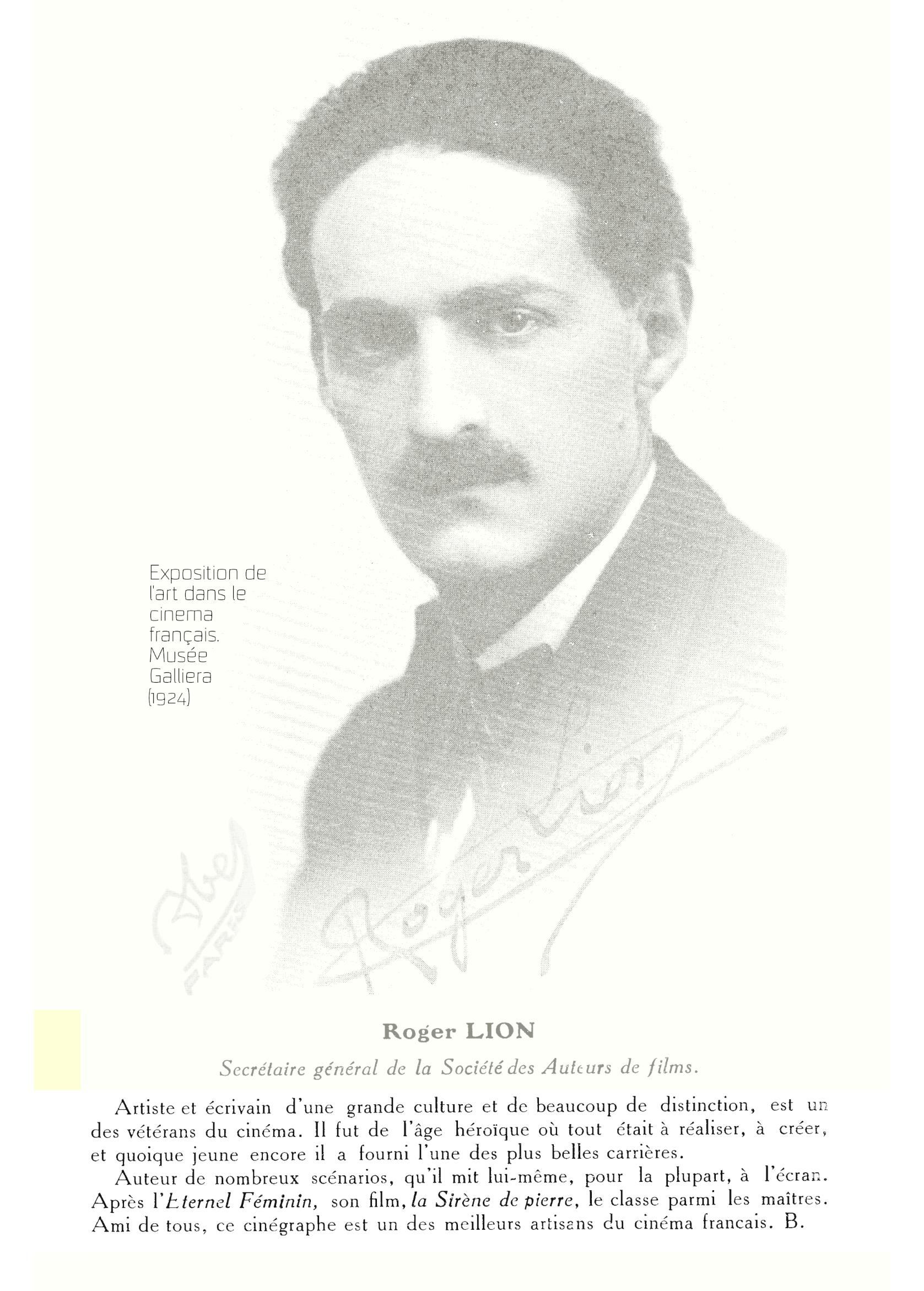
Desde os começos, um gros plan da vedeta feminina (mulher do Roger Lion) pareceu-me longo demais. Voltado para a coladora, digo-lhe:
— Cinco metros parece-me demais?… Uns três não bastariam?
— Parece-me que sim, diz-me ela…
— E estes tão longos planos, uns metros a menos não deveriam bastar?
Num conjunto de planos de uma sequência importante, intervertendo alguns, reduzindo um pouco um ou outro, parecia-me que lhe aumentava o interesse! Bobina por bobina fui assim recompondo a cópia, refazendo, sem propósito determinado a tal montagem. Duas semanas depois, muito, muito inquietos, voltámos com a cópia – agora modificada e com uns metros a menos – a apresentá-la aos Srs. Kastor et Lallemand. Após nova projeção, ligeiro conciliábulo entre os dois, e dizem-nos:
— Agora estamos de acordo.
Pode imaginar-se o nosso alívio, a nossa satisfação!
Com as delongas da remontagem, a aceitação dos distribuidores, o preparar toda a publicidade, etc. etc., a apresentação usual aos diretores de cinemas deve ter tido lugar cerca de fins de setembro (1923). Nas vésperas, terminadas as suas férias, Roger Lion quer ver primeiro o seu filme. Na sala de projeção estava sentada entre nós dois a encarregada da publicidade da firma. Projeção feita, vendo assim mutilada por mim aquela sua obra prima, fulo, furioso, o homem assalta-me como querendo dar cabo de mim! Pancadaria séria entre nós dois, de que conseguiu separar-nos a empregada; e vendo a inutilidade dos seus protestos, partiu finalmente tratando-me de marchand de chaussettes e mais outras amabilidades!
Antes disto, eu tinha já começado as minhas démarches procurando vender o novo filme aos compradores estrangeiros, e seguindo a exploração em França do primeiro, e agora do segundo, procurava tirar para a Gi o melhor partido dos dois, os quais não tinham, nem um nem outro, as grandes qualidades necessárias para entusiasmar, de entrada, os compradores.
Desde que eu chegara a Paris, afora ocupar-me dos filmes da Gi, eu tinha começado a seguir de perto a produção de filmes em França e, sempre que achava algum susceptível de ter agrado em Portugal, contactava o produtor, e assim tinha já conseguido que o Sr. Salomão Levy lhes comprasse um ou outro filme; do que me tinham provindo modestas mas bem úteis comissões de venda da parte dos produtores.
Renée (Mademoiselle Vallée), a minha indispensável colaboradora, tinha uns anos a mais do que eu, grande encanto pessoal, inteligência, cultura, e sentimentos de muito elevada espiritualidade: nascida de pais fermiers, com uma modesta exploração agropecuária na Normandia, tinha vindo para Paris aos 18 anos onde, trabalhando muito de dia, estudando depois com afinco numa escola de noite, tinha aprendido o francês bem a fundo, e foi adquirindo pouco a pouco uma muito boa formação. Principal secretária durante anos de um grande médico de Paris, com clientela principalmente de
Senhoras muito ricas, lá tinha conquistado muitas simpatias e por isso –entre outros – os frequentes convites para jantar da Marquesa de Valle Flôr. Afora o serviço normal de secretária, o patrão tinha-lhe descoberto brilhantes dons de crítica literária, e era ela que lhe fazia também grande parte dos artigos semanais assinados por ele e publicados num importante jornal anglo-francês. Após anos deste trabalho, sendo solicitada frequentemente a pôr em bom francês obras escritas por estrangeiros desejando ver-se publicados em França, deixou o meio medicinal e optou por esta ocupação. Vivia na Faubourg Saint Honoré (184) num pequeno studio de um 5.° andar, onde recebia quase todas as semanas Senhoras amigas, de grande interesse, com quem tive o prazer de criar também boas amizades.
Uns onze meses depois do nosso encontro, diária colaboração e intimidade puramente fraternal, descobrimos que estávamos apaixonados um pelo outro e, apesar de nem eu nem ela termos posição e futuro assegurados, decidimos casar. E, à graça de Deus… Anunciada a decisão a meus Pais, foi isso objecto de consternação na família. Em longo telegrama meu Pai impunhame regressar imediatamente à Ilha, etc. etc. O que recusei naturalmente, e viemos a casar a 26 de maio de 1924.
Anos antes de nos termos conhecido, Mademoiselle Vallée afora as suas ocupações de ordem material, como seu grande espírito de caridade, tinha-se interessado por uma pobre mulher que, ao morrer a suplicara de não abandonar três filhinhas que iam ficar completamente desamparadas. E, contratando um pequeno empréstimo de uma amiga abastada, conseguira comprar uma pequena ferme no país natal, tendo posto a dirigi-la uma irmã casada sem filhos, onde as três pequenas foram viver. E já avançadas nos primeiros estudos, bem desembaraçadas, ajudavam também nos trabalhos da ferme. Para ela, esta pequena exploração só lhe trazia algumas despesas e contrariedades, que suportava com boa coragem.
Aproximando-se o verão, e feitas as vendas possíveis dos filmes da Gi, restava-me fiscalizar e receber por sua conta os fracos rendimentos dos dois filmes em França, e como isso não necessitava a minha permanência em Paris, aguardando os acontecimentos, confiados no futuro, decidimos – a Renée e eu – irmos passar algum tempo na sua pequena exploração agrícola (em Lignerolles, perto de L'Aigle, na Normandia). Após três meses verificou a minha mulher que das três pequenas, a mais velha já em idade de casar o ia fazer brevemente, a segunda muito capaz para os serviços agrícolas muito facilmente encontraria emprego e, quanto à terceira, tinham descoberto parentes no norte da França que de boa vontade a acolheriam. Desgostosa por ver confirmada a pouca diligência da irmã na direção da ferme bem como do marido, carpinteiro de profissão, decidiu vender tudo. Contactado o notário local, voltámos para Paris. A venda foi concretizada depois e, pagos empréstimo e interesses à Senhora sua amiga, restava-lhe da operação um pequeno benefício monetário.
Com dez mil francos de participação da Gi, mais uns vinte mil de que dispunha agora minha mulher, constituiu-se em abril de 1925 uma pequena Sociedade de trinta mil francos de capital – A. d’Aguiar & Cie. – de que eu era o gerente. Era muito pouco, mas permitiu-me sub-alugar dois modestos quartos – quartos vazios – como escritório, no centro comercial num 2.° andar do n.º 19 da Rue de Montyon, perto da Rue Montmartre. Tive que os mobilar,
comprar máquina de escrever, etc. etc. e, com o precioso auxílio de minha mulher, metemo-nos os dois a trabalhar com todo o vigor. Mais propostas de filmes ao Sr. Levy (cuja firma se tinha transformado em Salm Levy [Jr.] & Cie.), outras para o Brasil, proposições de venda de adubos, bacalhau e outros variados produtos a firmas dos Açores e conhecimentos de Portugal, entendimento com o fabricante de um produto farmacêutico então de grande venda a quem fui fornecendo indicações de muitas centenas de farmácias e médicos portugueses que começaram a ser bombardeados com amostras de Grains de Vals (e com bom resultado, pois durante anos, fui recebendo dali pequenas comissões), etc. etc.

Como resultado das minhas primeiras cartas recebi rapidamente do Rio de Janeiro dum Sr. [Gustavo ou Braz Nery] Pinfildi, pedido para comprar e remeter contra au pochoir do filme La Vie et Passion de Notre Seigneur JésusChrist (Maurice Maître, 1913), que vendia a firma Pathé. Tendo o homem concordado com o preço de 15.000 francos, comprei e paguei a pronto os 13.500 do custo, remetendo-lhe a factura a pagar no destino à Agência no Rio, do Banco português instalado em Paris, ao qual entreguei os documentos de embarque da cópia, sem os quais não poderia retirá-la da alfândega brasileira. Era um desembolso importante para o nosso modesto capital, mas era um bom início de negócios, e julgámos dever fazê-lo.
Semanas se passaram, e sem resposta do homem aos meus telegramas, acabei por saber pelo Banco que o patife conseguira subornar um empregado da alfândega local e tinha podido retirar a cópia sem nada ter pago ao Banco! [Seria] inútil intentar um processo [judicial] num país tão longínquo e em que tal coisa se podia passar. Com as despesas de expedição à nossa custa, a comissão do Banco, as anteriores da instalação, ia-se-nos assim quase todo o nosso bem fraco capital. Dizia-se que, como acontece aos cachorros à volta dos 3 meses e passam pela maladie des chiens – de que escapam ou de que morrem –, acontecia por vezes o mesmo a firmas novas. Estávamos em pleno em tal caso!








�� JornalCorreiodaManhã(RiodeJaneiro),ano19,n.º 7626,de15dejaneirode1920,p.4



�� RevistaCinearte(RiodeJaneiro),ano3,n.º125, de18dejulhode1928,p.4
Chegados de São Miguel mais ou menos por esta ocasião, recebi a visita de um grande amigo (posto que mais velho do que eu), Augusto [Rebelo] Arruda (1888–1964) e sua mulher; já bem sucedidos na vida, tinham comprado, num leilão do espólio da Condessa de Sta. Catarina, um colar de brilhantes, e vinham para o vender esperando tirar bom lucro. Corri com eles vários ourives. Os brilhantes não eram de grande qualidade, mas lá se conseguiu vendê-los (por 32.000 francos), muito menos do que esperavam, mas certamente ainda com lucro.
Na minha pequena Sociedade, agora com este percalço do Rio, estávamos brevemente ameaçados de nos irmos abaixo. Sem a isso lhes fazer a menor alusão, devem ter sentido as dificuldades em que me via. E mostrando tão boa amizade, muito insistiram para deixarem como empréstimo 20.000 francos; na tão frágil juventude da firma, ver entrar este tão imprevisto balão de oxigénio, vinha mostrar a verdade do provérbio:
Ao menino e ao borracho Deita Deus a mão por baixo.
�� [Borracho:«pombonovo,implumeousema plumagemcompleta,queaindanãovoa»inDicionário HouaisscitadonoCiberdúvidasdaLínguaPortuguesa]
No entanto, a boa sorte tendo-me ajudado a resistir aos embates dos meus começos, não tinha diminuído a minha vontade de ir por diante. Das minhas propostas para a Ilha começavam a vir respostas, e o trabalho do escritório obrigou-me a procurar uma empregada que conhecesse bem o português, fosse boa estenógrafa, datilógrafa, etc.
Mademoiselle Germaine Lansac vivera, muito nova, com a sua família no Brasil. Agora, tendo já muitos anos de experiência em casas exportadoras, falando e escrevendo muito corretamente a nossa língua, revelou-se uma excelente aquisição como secretária.
De São Miguel tinham começado a suscitar interesse as minhas propostas de adubos, de bacalhau e começava a ter pedidos. À consignação recebia já pequenos lotes de ananases que vendia nas Halles de Paris por intermédio de um ou outro mandatário.

�� Atransaçãodeananasesnomercadodegrande consumo,emcarrinhosdecomprasqueembatem numacadeiaibéricaderetalhoentreas19heas20h, ganhouumanovaleituraapartirdeagostode2024, mastemposhouve quenemapalavra«borracho»na origemcastelhana(ébrio)eraempreguecomopiropo emportuguês.
Pouco depois da entrada da secretária, tinha vindo ver-me um homem de certa importância na Ilha. [Cristiano] Frazão Pacheco (1885–1964), bastante mais velho do que eu, personalidade importante em São Miguel, homem dinâmico, tinha muito anteriormente fundado em Ponta Delgada a Sociedade Corretora de Ananases e, com o apoio de consideráveis pessoas da Ilha, tomado parte de responsabilidade na fundação da Companhia de Navegação Carregadores Açoreanos. Dela, era [ele] então o Diretor. Com três ou quatro barcos assegurava o transporte dos ananases para a Europa, retornando com carga geral para a Ilha, via Porto e Lisboa. Tendo sabido da nossa existência, veio propor-me entrar na Sociedade. Aumentado consideravelmente o capital (de que apenas concretizara um quarto – 50.000 francos), o nome da firma passou a ser Frazão, Aguiar & Cie.


De entrada, instalou-se na mesa grande em face de mim, e convocando a secretária, trabalhou esta dois ou três dias unicamente ocupada por assuntos relativos aos seus negócios.
Afora este intermédio, eu prosseguia transações com a Ilha, vendas de filmes para Portugal, doutros para Espanha por intermédio de um catalão –Salvador Ferrer – com boas relações com distribuidores em Madrid e Barcelona, e com quem partilhava as comissões.
Deve ter sido pela mesma época que me contactou também um outro catalão [nota: talvez Llorenç Castellví i Bassa, que virá a morrer em 1933 ou o filho, Josep Maria Castellví i Marimon (1900–1944): a obra Història del cinema a Catalunya (Generalitat, 1992) de Miquel Porter i Moix, atribui o ano de nascimento em 1901 ao filho Josep, que em 1931 realizava um filme em Paris, Cinòpolis, «uma tentativa de cinema sonoro falado em castelhano, que representou seu primeiro trabalho como realizador cinematográfico»; já a Enciclopèdia.cat refere que nasceu em 1900 e aos 15 anos começou a trabalhar com o
�� [Cristiano]FrazãoPacheco(1885–1964)
pai] (Castellví), por intermédio do qual entre outros me recordo ter vendido um de nome Fédora (Jean Manoussi, 1926) que lá deve ter tido então grande sucesso.

�� AnúncionaantologiaBodasdePlatadeArtey Cinematografía(Espanha,1936).
Volto porém um pouco atrás. Poucos meses depois do nosso casamento, pessoas amigas e parentes passavam por Paris e vinham ver-nos. A minha prima Meliza que o Pai ia levar a um sanatório na Suíça, a minha prima Maria Luiza e os Pais, tinham conhecido e apreciado o valor e as qualidades de minha mulher. E iam fazendo, ao regressar à Ilha, os melhores elogios a seu respeito.
Meu Pai cortara relações comigo, e nunca mais me tinha escrito desde o meu casamento. Em começos de junho (1926) recebo dele uma carta um tanto solene em que me anuncia vir a França com minha mãe e minha irmã Diana. E pedia-me para os ir receber ao Havre [na costa do Canal da Mancha].
Seduzido pelo encanto de minha mulher, meu Pai sentindo-se um pouco envergonhado pela sua inicial atitude para com ela, pedia-lhe ao partir, que viesse de visita à Ilha no verão seguinte. E vendo então quanto intenso era o meu trabalho, insistia:
— Mesmo que o Ayres não possa vir consigo, muito apreciaria que viesse mesmo, só para eu próprio poder apresentá-la a toda a família.
Quanto ao Frazão Pacheco, poucos meses depois do início, tinha voltado a Paris, e o mesmo se produzira quanto ao trabalho exclusivo da secretária para os seus negócios durante uns bons três dias. E quanto aos nossos negócios com a Corretora (à parte de alguns ananases à consignação), tínhamos recebido dela uma encomenda de adubo que paguei e lhe expedi de Anvers [Antuérpia]. Passei tormentos para ser reembolsado da factura, depois de lhes ter enviado telegramas e telegramas insistentes para o conseguir. Só ao fim de uns três meses é que o consegui!
À terceira passagem por Paris (começos de janeiro de 1927), propôs-me [Frazão Pacheco] ao chegar, um aumento considerável e efectivo de capital, e que então entraríamos em fase de importante colaboração com as suas firmas. A minha reação imediata foi recusá-lo mas, por deferência, dar-lhe-ia resposta no dia seguinte. Recebeu a minha negativa com certa surpresa, mas aceitou a recusa com elegância. Do capital por ele subscrito, só tinha entrado efetivamente com pouco, que propus reembolsá-lo em poucos meses.
A Sociedade voltou a chamar-se A. d’Aguiar & Cie., e a secretária – Mlle. Lansac – passou a dedicar-se exclusivamente à nossa firma.
Pouco depois, veio ver-me o meu amigo Vasco [Elias] Bensaude (1896–1967). Enorme fortuna, dono quase exclusivo de Bensaude & Cie. de que todavia relativamente pouco se ocupava pessoalmente. Solicito-lhe um empréstimo de 65.000 francos; logo o aceitou, dizendo-me porém:
— Faço-o com a melhor boa vontade, mas se o preferes, entro com eles na tua Sociedade. No que terás talvez vantagem, visto que alguns negócios que a minha firma tem com a França poderão muitas vezes passar através de ti.
Aceitei evidentemente esta modalidade mas, na realidade, ele deve ter-se esquecido de dar ordens nesse sentido aos seus diretores, e eu pela minha parte entendi também nunca os solicitar. Durante mais de doze anos foi meu sócio, recebendo no fim de cada exercício muito apreciáveis dividendos. Tivemos de nos separar por imposição dos alemães desde o começo da ocupação da França, sob ameaça de ser posta a firma debaixo de autoridade judiciária enquanto ele dela fizesse parte.
Volto porém, mais uma vez, atrás; para satisfazer o pedido de meu Pai, nos começos de julho de 1927, estando eu muitíssimo ocupado, tendo que zelar ao máximo a faina diária da minha Sociedade, acompanhei minha mulher a Marselha onde tomou o Providence que parava então em Ponta Delgada, e passou um mês a ser apresentada e a conhecer todos os nossos parentes e pessoas amigas.
Feitas estas digressões, volto novamente atrás à realidade positiva dos nossos negócios. Nestes anos sucessivos, até fins de 1927, tinham eles evoluído muito, muito razoavelmente. Afora os filmes que continuava a exportar, as vendas de adubos – de França, Bélgica, Noruega –, de bacalhau (de Fécamp), as consignações de ananases, de bananas e pêra-abacate que recebia da Madeira, tinha esquecido completamente muitos outros de que noto traços em velhos rascunhos do tempo, como por exemplo uma venda de 11 táxis para Lisboa; um G.A.R. – carro de sport (fabricado então por um Mr. Gardahaut) – que vendi ao meu amigo, Pai do Luís Franco; um piano ao Dr. [João] Silvestre d'Almeida (1866–1945), meu médico e amigo em Lisboa,
etc. etc. Os resultados revelaram-se muito razoáveis, e começávamos a ficar apertados nos dois pequenos quartos da Rue de Montyon.
Em fins de 1927 descobri, não longe de lá, um local muito mais vantajoso: um 1.° andar, no n.º 12 da Rue Hippolyte Lebas. Paguei os 30.000 francos de pas-de porte, e lá nos encontrávamos instalados em começos de 1928, onde melhor se prosseguiram as nossas actividades.
Em maio (1928), cartas da Ilha anunciavam uma grave doença de meu Pai. Meu irmão Henrique era dado então a acessos de neurastenia e, acompanhado pela mulher, estava fazendo uma cura numa casa de saúde de Pau [cerca de 200 km a sul de Bordéus]. Pouco depois recebemos, ele por seu lado, eu pelo meu, telegramas urgentes anunciando a gravidade da doença. Partimos imediatamente, eu e a Renée de Paris, ele e a Inês de Pau. Tinha-nos esperado 24 horas em Lisboa o Lagoa, barco dos Carregadores, mas em vão; chegados à Ilha, meu Pai tinha falecido dois dias antes.
Este choque curou o Henrique da sua doença e, tomando então mão na firma familiar, soube dirigi-la com toda a competência e consciência dum bom chefe de família.
Desde há mais de quarenta anos, a firma tinha vivido e prosperado sob a sábia direção de meu Pai, mas, por assim dizer, quase sem estatutos. Foi uma das minhas missões ajudar a pôr tudo em boa ordem.
Mademoiselle Lansac tinha mostrado merecer-me toda a confiança, e em cada barco recebia dela notícias do que se passava em Paris. Tudo parecia ir seguindo normalmente.
Na Ilha, os ananases eram então objeto da principal exportação local. Os principais mercados eram Londres e Hamburgo onde, mal chegavam, logo eram vendidos. O Havre tinha menos importância. De lá eram reexpedidos para Paris, principal mercado em França. Nas minhas passagens pelas Halles, já devia ter tido contatos com revendedores de frutas exóticas dalgumas cidades da província. E visto que devia ser viável descobrir, em cada, o mais importante vendedor – geralmente espanhol ou italiano –, e entender-me diretamente com ele, resolvi então modificar esta forma de negociar em ananases. Seria porém indispensável organizar-me para ganhar uns dias entre a chegada do barco ao Havre e a chegada da fruta aos revendedores. A fruta embarcava verde e assim chegava à Europa. Acontecia porém que quando durante a viagem tinha havido trovoada, a fruta amadurecia de um dia para o outro, e chegava madura ao Havre. Era o próprio barco que trazia, aos transitários, conhecimentos e instruções dos exportadores e a fruta levava cerca de três dias a chegar a Paris. Nessas ocasiões, já imprópria para ser reexpedida aos revendedores de província. A perda era quase total. Naqueles tempos sem telex funcionavam, porém, os telegramas e, para as transações correntes, empregavam-se os códigos comerciais: ABC, Bentley’s, Lugano, Ribeiro, etc. Os correios aceitavam telegramas em código constituídos por grupos de 10 letras. Cinco letras correspondiam a uma frase; juntando-se dois grupos de 5 letras compunham-se duas frases e, em 8 ou 10 vocábulos transmitia-se o essencial de uma mensagem. Tendo levado a cogitar no assunto, resolvi e estabeleci em 3 ou 4 semanas um código, o mais completo possível, comportando todas as indicações que poderia necessitar este novo modo de exploração. Deixei estabelecido na Ilha a organização de compra da fruta de estufas inteiras por minha conta, conforme as instruções
que daria segundo as datas prováveis das chegadas, bem como um serviço de embalagem e expedição em regra da fruta que me seria destinada. Desde a manhã seguinte ao embarque eu saberia em Paris todo o detalhe que me era destinado, o número de malotes de 8, 10 ou 12 frutos, por-me-ia em contacto por telefone com os compradores mais importantes de cada cidade e, desde a véspera da chegada do barco ao Havre, o meu transitário teria recebido todas as instruções para fazer as expedições sem mais demora desde a manhã seguinte.
De volta a Paris, em começos de setembro de 1928, posta em prática por mim mesmo, esta organização [de codificação telegráfica] mostrou-se de perfeita eficiência e comecei a fornecer brevemente os principais clientes das grandes cidades da França como do norte da Itália, Suíça e Bélgica. Os ananases chegavam por vezes maduros ao destino, mas ainda perfeitamente vendáveis, e nunca tive a menor reclamação ou dificuldade de pagamento.
Os conhecimentos dos embarques que me eram destinados comportavam como destino Le Havre ou Londres. De forma que quando não tinha vendido tudo no Continente, os 20 ou 30 malotes restantes seguiam para Londres, onde o meu correspondente no Covent Garden Market sem dificuldade os vendia.
Organizado o sistema desde os primeiros embarques após o meu retorno a França, Mademoiselle Lansac tomou depois o negócio entre mãos e, apenas com breves intervenções minhas, assim funcionou sem percalço durante todos os anos que precederam a guerra. E deixando sempre benefícios bem apreciáveis.
Na Ilha tinha podido saldar a minha dívida ao Frazão, reagradecer e reembolsar o Augusto Arruda e, agora em Paris posto em bom andamento o meu ramo de negócios – ananases –, voltei a mexer-me em todos os outros seguindo de novo os filmes franceses e americanos susceptíveis de terem agrado em Portugal e Espanha.
Os nossos contactos com o catalão Salvador Ferrer, bem como todas as transações feitas por seu intermédio, tinham-se desenrolado sem nenhum atrito, muito razoavelmente desde o princípio, e o homem tinha acabado por me merecer confiança. Tendo algumas produções alemãs feito bom sucesso em França, cerca de novembro de 1928 propôs-me ele ir a Berlim, e lá comprar por minha conta dois ou três filmes que, bem escolhidos, estava convencido poder vender a um dos distribuidores da região parisiense, vendendo depois ele e eu no resto da França, região por região. O negócio pareceu-me atrevido, mas muito prometedor e, tendo tido ocasião de ver que era competente e sério, dei-lhe o meu acordo. De lá trouxe-me três filmes que, depois de eu os ver, também me pareceram serem facilmente vendáveis. Com o pagamento destes, com outros desembolsos feitos anteriormente, estava absorvido todo o meu capital disponível. Imediatamente se pôs em campo para encontrar comprador para a região parisiense que, afora Paris compreendia importante extensão e, sem a venda da qual, era inútil tentar negociar todas as outras regiões.Contactou distribuidor após distribuidor e a nenhum conseguiu vendê-los! O que representava para mim, desastre fatal, falência agora sem remissão! Passei três semanas na maior angústia… Na minha desesperança entrava por vezes na igreja vizinha (Notre Dame de Lorette) a orar, a orar…

Desde os meus começos, bem antes da constituição da firma, visitava regularmente os principais produtores franceses, entre outros a Sociedade – Albatros – de russos brancos [de Odessa] produzindo filmes com um famoso ator também refugiado – [Ivan] Mosjoukine (1889–1939) – (e outra grande vedeta feminina cujo nome esqueci). Era das firmas [fundada por Alexandre Kamenka, a Albatros] que eu mais frequentara e de que tinha vendido vários filmes. Lá, tinha conhecido e simpatizado com um dos colaboradores – Mr. [Boris] Kalinovsky –, o qual, coincidência extraordinária, me apareceu por esses dias a visitar-me.
No meu desalento, e parecendo-me ver nele real amizade, senti-me levado a confiar-lhe a minha situação: ver empatadas todas as minhas disponibilidades em três filmes de que ninguém queria para a região parisiense, era uma catástrofe para mim! Com a maior espontaneidade ele diz-me:
— Mais vous n’avez qu’à les exploiter vous-même!
— Distribuí-los eu mesmo?! Mas como?
Sem local suficiente, sem o indispensável pessoal competente… Que disparatada ideia de me meter nisso!…
E ele parte dizendo:
— Vou pensar no seu caso.
Dois dias depois volta a ver-me. Tinha solução a propor-me.
Monsieur [Jean] Séfert (1908–2010), pessoa sua conhecida, explorava um negócio curioso: comprava quase de graça velhas cópias de filmes passados, e em tal mau estado que já não convinham para os cinemas normais. Três empregadas vérificatrices, cortavam as partes que as perfurações laterais estavam já como que em renda, recolavam a seguir as partes ainda o que dava em geral uma história sem nexo, mas o homem vendia depois as cópias – ao kilo –, a ciganos com aparelhagem portátil de projeção e que exploravam passando-as nas feiras de todo o país. E estava-lhe dando isso bons resultados! Levou-me logo a conhecer Mr. Séfert, homem modesto, mas que me fez boa impressão. No seu rés-do-chão (Boulevard Poissonnière), tinha toda a possibilidade de receber o meu material, acolher o pessoal que eu deveria angariar para a exploração dos meus filmes, podendo porém assegurar a verificação das cópias e distribuição física das mesmas. No dia seguinte, Mr. Kalinovsky traz-me o seu amigo Mr. [Léon] Garganoff, proprietário dum laboratório cinematográfico – Lianofilm –, que muito simpaticamente se prontificou a receber os negativos dos tais três filmes, e aceitava dar-me meses de crédito para pagamento das cópias necessárias para a exploração de cada um deles. Tudo isto me pareceu ser a única solução para resolver os meus problemas, e tive que o aceitar.
O meu destino tinha sido mais forte do que a minha vontade. Nunca me tinha saído da memória a desastrada experiência da Gi, e tudo quanto dizia respeito a entrar mais a fundo em assuntos de cinema, enchia-me de pânico!

Lembro-me agora de uma predição que me tinha sido feita nos começos das minhas actividades em Paris.
Tinha conhecido e travado amizade com uma Senhora já idosa, amiga de Mademoiselle Vallée (minha futura mulher). Espírito curioso, inteligente e, posto que muito religiosamente cristã, tinha grande interesse e competência em questões de Astrologia. Quis fazer o meu horoscópio. Feito há mais de sessenta anos, esqueci naturalmente os seus dizeres. Do que ainda me recordo bem, foi uma passagem em que vinha escrito:
Le succès viendra d’un travail ayant rapport avec les Arts et le Grand Public.
Podem os sábios modernos descrer, e os sabichões desprezarem geralmente estudos datando de tão longínqua antiguidade, mas a previsão dum tão imprevisto ponto que me concernou, deixou no meu espírito certo respeito pela Astrologia!
Voltemos porém às realidades da época. Em começos de 1929, estava de modo impensável metido na distribuição de filmes. Independentemente dos meus outros negócios que não queria deixar, tive que tomar a peito tudo quanto dizia respeito a este novo ramo de atividades [distribuidor, agente de vendas internacional e produtor; só não foi exibidor].
Para os três filmes, preparar e encomendar as indispensáveis brochuras ilustradas com um curto resumo do filme, os jogos de fotografias, os cartazes dizendo respeito a cada um deles.
Angariar vendedor competente, conhecedor de cada cinema de Paris e os de toda a região, uma secretária experimentada que recebia do vendedor os contratos com cada cinéma, registar datas de passagem e fazer todo o necessário para que a exploração a partir do rés-do-chão de Mr. Séfert funcionasse sem problemas…

[Jean Séfert refere-se a Ayres de Aguiar no livro La chance m’a fait cinéaste (ed. Economica, 2005): Certains anciens confrères, considéraient que j’étais un mégalomane. En revanche, Ayres d’Aguiar avait confiance en moi. Il aurait dit: « Je ne pense pas qu’il réussisse mais s’il y en a un qui puisse réussir, c’est Séfert ». Para quem conheceu ou investigou sobre Jean Séfert, o endereço: memoria.sefert@gray-film.eu – e agradecem-se colaborações.]
Os três filmes – mudos evidentemente – para cada um dos quais tive que mandar fazer e por nas cópias letreiros em francês, tinham por títulos: Adam et Eve (Rudolf Biebrach, 1928), Le Journal de Ninon (1929), La Dame en Noir (Die Dame in Schwarz, Franz Osten, 1928), e foi-me possível então empreender as vendas das regiões de Bordéus-Toulouse, Marselha, Lyon, Nancy, Alsácia e norte da França. Consegui fazê-lo sem grande dificuldade e, parte a dinheiro parte por letras – muitas descontáveis –, trouxe-me isso um bom complemento de solução às minhas dificuldades. Insuficientes todavia para assegurar uma boa démarrage da minha distribuição, tive a boa sorte de conseguir juntar aos três primeiros: La Maison du Mystère (em reedição, Gaston Roudès, 1933), Tempête sur l'Asie (Richard Oswald, 1938), e mais outros.

�� Ofilme«LeJournaldeNinon»naprofusamente ilustradaCiné-Miroir,n.º227,de9deagostode1929, estátipografadocomodaobradeLudwigTanaremvez donomecorretodoautor,LudwigThoma(1867–1921); estapublicação,duaspáginasdepois,incluitambém umresumopara«LaDameenNoir».
Repensando agora no tão imprevisto desenlace da minha bem angustiosa situação, naquela eminência de falência, estou hoje convencido ter sido uma milagrosa resposta às minhas muito ferventes orações. Poderão considerar ser ridículo este meu modo de pensar, mas não importa e confirmo bem ser isso, para mim, como uma certeza interior.


Tendo aceite a nova direção que o destino me tinha dado, entendi que convinha atribuir à Sociedade um nome mais conforme a esta sua nova atividade. Tomei dos três primeiros associados um pouco de cada nome: Gi - RenéeAYres, e assim se acrescentou nos Estatutos a marca destinada a acompanhar-me em todas as minhas atividades de cinema – Gray-Film –.
(continua…)




LER, COMO SE DEVE




LER, EM PAPEL
Texto
José Machado
O Argumento celebra quatro décadas. Começou como mensário boletim informativo (desde 1984) de um mais antigos cineclubes que resistem em Portugal, o de Viseu (fundado em 1955). É muito mais do que um boletim o que hoje se imprime, como dever ser, mas o porquê de uma tiragem 300 exemplares é também a razão de uma permanente inquietude. Se ainda não é assinante, como eu, creia-me se a sua qualidade e a de colaboradores que leio com muito prazer, como professores que tive o privilégio de conhecer (na ECAM) como Carlos Losilla e Àngel Quintana, que para esta última edição especial esteve que, mais do que uma entrevista, cruzou uma conversa sobre o cânone (que, como as conversas são um começo) com Pedro Mexia, (que também termina a citar o título de Umberto Eco, A Vertigem das Listas) entre as direções das publicações do CCV (Margarida Assis) e da Transit: cine y otros desvíos (Lucas Santos).
Os Caimán Cuadernos de Cine foram (e recordo-os com enorme gratidão) o meu berço em castelhano, ao qual sempre volto e que acompanhei de perto em Madrid no último ano, como nenhuma outra revista. A crítica às estreias em Espanha, que são parte de uma leitura indispensável, não só para quem vive numa cidade espanhola com salas de cinema, mas alguns dos melhores textos e preciosidades, como o memorial de Narcisa Hirsh (1928–2024), no digital via Kiosko y más. Setembro com Volveréis (Jonás Trueba, 2024), na capa e nas salas espanholas desde 30 de agosto. A história dos Caimán será contada, mas há que vivê-la e, ao lê-la, sentir o amor ao cinema numa existência tão tocante. Obrigado, ao Carlos F. Heredero e a toda a equipa.
A Limoeiro Real, na capa ilustrada pelo madrilenho Manuel Marsol para o volume VI, apresentado no dia 31 de julho, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, pelo bibliotecário João Sousa Guerreiro (à esquerda, na foto) com os editores Inês Viegas Oliveira e Mariano Tomasovic Ribeiro, que escreveu no editorial: «Uma revista literária impressa, afinal de contas, é sempre um antídoto contra a frivolidade agressiva dos nossos dias: um objecto físico, demorado na sua periodicidade, naturalmente efémero. Abrimos a revista e temos de novo, pelo menos por uns instantes, os pés na terra, como homens e mulheres livres». Assisti a lançamentos de edições anteriores em Lisboa, mas é ainda mais bonito olhar para o lado, na terra onde é editada, e ver leitores a contemplarem nas folhas centrais Notas sobre o tempo de Maria Durão. No final, a pergunta com curiosidade pelo título, que encontra resposta na primeira página: «Como um quadro impressionista, este limoeiro não é uma representação do real. Guarda nas suas raízes uma linguagem onde a incerteza expressa uma forma de sentir o espaço e o tempo». O título é de um livro de Juan José Saer (1937–2005)».
✉ revistalimoeiroreal@gmail.com
Isto anda tudo ligado
DA REDAÇÃO DO CINÉFILO AO JORNAL DE LETRAS
Texto José Machado
O primeiro número de uma publicação parte com quem lê para uma viagem
A caminho do centenário, na rota de outros tempos ao momento presente, a gray-film lança pistas para cineastas e leitoras, espalhadas pelo mundo, futuras programadoras de cinema que queiram colaborar com esta revista, porque isto anda tudo hiperligado num mundo fechadode homens, faz falta quem não teve espaço e, ainda não está neste primeiro, mas nesta revista toda a gente que ame o cinema é muito bem-vinda! Recordo com saudade um professor (com quem convivi intensamente durante dois anos, há duas décadas), filho do tipógrafo-chefe do jornal O Século (1880–1979): Armando Baptista-Bastos (1934–2017) tinha 5 anos quando foi extinta a primeira série (1928–1939) do Cinéfilo, o suplemento quinzenal d’O Século, fundado e dirigido por nos primeiros anos por Avelino de Almeida (1873–1932). Terá lido o suplemento Cinéfilo muitos anos mais tarde, mas ler muito desde pequeno, a escrever desde os 12 anos, a viver no bairro da Ajuda, frequentador do Salão Portugal, na Travessa da Memória (que Lisboa perdeu como cinema; é, desde 2000 a sede do Comité Olímpico de Portugal). A um grande leitor me refiro, também de revistas cinematográficas e é clara a influência da revista italiana Cinema Nuovo (1952–1996) de Guido Aristarco (1918–1996), ainda do original, que a História das Teorias do Cinema, traduzida para português por Maria Helena Sacadura e Júlio Sacadura, só foi publicada pela editora Arcádia em 1961. Baptista-Bastos que assinava B.B. (o Bastos, para os amigos) viria a tornar-se no jornalista muito novo e, com 25 anos, prestes a fazer 26, escreveu no seu livro O Cinema na Polémica do Tempo (1959): «Numa pequena brochura editada, em 1954, pelo S. N. I. quando da participação de Portugal no I Festival Internacional de Cinema do Brasil, lê-se na última página o seguinte:
<A crítica cinematográfica ocupa na Imprensa Portuguesa, um lugar mais destacado que na maioria dos países. Todos os jornais diários publicam, pontualmente, na secção «últimas notícias», a crítica das estreias de véspera, assinadas por redactores especialmente
incumbidos de apreciar os novos filmes (nas versões francesa e inglesa lê-se «redactores especializados»). E pode afirmar-se que mantêm absoluta independência, quer se trate de produções estrangeiras ou nacionais.>
Ora, presumimos que só o desconhecimento total da verdade fez com que estas palavras fossem escritas. A situação da crítica de cinema nos jornais portugueses é exactamente o contrário do que se diz na brochura. Subordinados a interesses de ordem vária, desde os pessoais aos administrativos, os jornais portugueses, na sua esmagadora maioria, ainda não gozam da absoluta autonomia que a sua missão exige. É fácil interferir, portanto, que as linhas acima transcritas não são consentâneas com a verdade: começa porque a pessoa encarregada de fazer o «comentário» ao filme estreado é raro ser um especialista; depois, o «comentário» é sempre subserviente às normas administrativas; e finalmente, a «crítica» é sempre uma vulgar notícia, com o sortimento de adjectivos banalizados pela rotina da profissão. O espectáculo fornecido pelas notas de estreia de filmes é mais pobre do que Job. Além disso, o cinema ainda não conseguiu, da Imprensa do nosso País, a certidão de maioridade a que tem direito: veja-se que nenhum jornal com lucidez e seriedade se preocupou, até à data, pelos seus problemas culturais, teóricos, técnicos, estéticos ou históricos. O exemplo de Avelino de Almeida [nota de rodapé] foi um dos maiores jornalistas portugueses do seu tempo. Espírito sensível, inteligente e extraordinariamente culto, levou para as colunas do «Século» alguns curiosos e, sobretudo bem documentados artigos sobre teoria, estética e técnica cinematográficas. Foi, porventura, o primeiro jornalista português a interessar-se, sèriamente, pelos problemas do cinema. Mais tarde, assumiu a direcção da revista «Cinéfilo», função na qual seria sucedido por Augusto Fraga. [fim da nota de rodapé]
não foi seguido. E a crítica independente que se faz em Portugal é, normalmente, assinada por amadores bem intencionados e esclarecidos. O jornalista nacional – não o escondamos – encontrase sem a preparação necessária exigida pela crítica cinematográfica, e a suas opiniões são, em geral, presididas e ditadas pelas suas sensações momentâneas e, depois, filtradas pela própria autocensura: o redactor que vai «fazer uma estreia» já sabe que existem imperativos publicitários a respeitar. Diversos jornais portugueses, particularmente os da tarde, inserem com regularidade páginas dedicadas ao cinema. Ora, salva raríssimas excepções, essas páginas não possuem nível e, por inadvertência dos seus orientadores, dedicam especial atenção ao noticiário sobre a vida privada das vedetas da tela, às declarações «picantes» de Marilyn Monroe ou às últimas «boutades» de Bob Hope. A deformação cultural provocada por este estilo de jornalismo é extremamente grave e origina, no leitor-cinéfilo, um estado de evasão propício a tudo: desde o desinteresse pelos seus próprios
problemas, até o aparecimento de angústias psicopatológicas. A leviandade com que o cinema tem sido tratado, cá na terra, acrescente-se o evento de uma certa facção crítica, nitidamente delirante e mais ou menos corrupta, que blasona convicções políticas para encobrir as próprias deficiências e as dos amigalhaços, para estabelecer a confusão, para causar escândalos e para fazer as mais inquietantes denúncias e calúnias. Chega-se, pois, ao somatório de que a cultura e o conhecimento cinematográficos são pràticamente inexistentes em Portugal. As dificuldades editoriais não permitem a publicação desenvolvida e periódica de livros esclarecedores e os que até agora se publicaram constituem, acima de tudo, esforços individuais coordenados, desde o começo, à falta de continuidade. É de louvar o esforço assinalável desenvolvido pelos cineclubes nacionais (cerca de trinta, no Continente, nas Ilhas e no Ultramar, e que dispõem de uma massa associativa computada, aproximadamente, em vinte e cinco mil pessoas) apostados em recuperar para o cinema o público a que tem direito. De resto, acentuemos, o movimento cineclubista foi, até hoje, a única tentativa de bloco, incubada em solo português, tendente a defender e a propagar o valor social do cinema. Em quatro encontros de dirigentes cineclubistas – o primeiro realizado em Coimbra, em 1955; o segundo na Figueira da Foz, em 1956; o terceiro em Lisboa, em 1957; e o quarto em Santarém, em 1958 – foram explanados, claramente, os objectivos, as aspirações e as dificuldades do cineclubismo, que tem sofrido violentos e maldosos ataques de certa gente, que procura estabelecer a ambiguidade para preservar interesses individuais. Um diploma governamental, o decreto-lei n.º 40.572, de 16 de Abril de 1956, criou a Federação Portuguesa dos Cineclubes e suscitou reparos e uma exposição das comissões representativa e consultiva dos cineclubes ao ministro da Presidência, pois o documento coarctava determinados aspectos da autonomia por que se devem reger aquelas agremiações de cultura e pressupunha uma pragmática que findaria por ser extraordinàriamente nociva a um dos movimentos mais válidos e honestos que se processaram em Portugal nos últimos anos. Entretanto, no seu encontro em Santarém, os cineclubes aprovaram um projecto dos estatutos federativos e têm insistido para que a Comissão Organizadora da Federação
[nota de rodapé] é composta dos srs. Artur dos Campos Figueira, presidente da União dos Grémios de Espectáculos; Luís Andrade Pina e Mário Sequeira Pimentel, do Cineclube Católico de Lisboa, recentemente criado. [fim da nota de rodapé]
dê lugar, o mais ràpidamente possível, a uma direcção eleita pelos cineclubes em assembleia-geral. Já solicitaram, igualmente, ao Fundo do Cinema, a concessão anual de um subsídio, o qual seria aplicado, após parecer da Federação, na aquisição de máquinas de 16 milímetros, com que se iniciaria a realização de uma cinemateca dos cineclubes, de bibliotecas especializadas, etc.
A QUESTÃO DA CENSURA
Outro aspecto insólito e grave do problema do cinema no nosso País é o de a Censura. A inexistência de uma codificação tem proporcionado as mais alarmantes atitudes: não é novidade para ninguém o afirmar-se que os critérios das comissões de censórias diferem de local para local e, até, de censor para censor! Assim, a opinião da Comissão de Censura do Porto é diferente da de Lisboa e esta da de Coimbra. Um caso recente vem provar à evidência o que dissemos: o último filme de Charlot, «Um Rei em Nova York», foi proibido de passar em Portugal Continental; entretanto, o mesmo filme foi projectado em Luanda! Isto para não discutirmos o facto de conseguirem o visto películas sub-repticiamente eróticas, de convite à violência, de apologia da guerra, de elogio à perversão, encapotadas (claro!) sob pretensos objectivos moralizadores; enquanto outras, de honrada denúncia de acontecimentos, de sobrestimação de valores positivos, de apelo à consciência do homem, de chamada às responsabilidades individuais e colectivas não logram o beneplácito censório, porque logo se levanta o espantalho do <subversivo>.
Por outro lado, o Secretariado do Cinema e da Rádio, de feição acentuadamente católica, emana, todos os dias, através do jornal «Novidades» e da emissora Rádio Renascença, uma «classificação moral» dos espectáculos absolutamente inconcebível. A questão das classificações é, aliás, um caso de vital importância, que exige uma revisão urgente e cuidada; mais de cinquenta por cento dos filmes exibidos em Lisboa são vedados a menores de 17 anos. No plano económico, essas limitações traduzem-se em cifras inquietantes: de facto, a frequência dos cinemas desde o evento das classificações reduziu de vinte a trinta por cento, percentagem que tem tendência para aumentar. Verifique-se, também, que, para a TV, não existe qualquer regulamentação específica, o que dá origem a resultados deste tipo: um filme que é vedado aos menores de 17 anos pode ser visto por telespectadores de qualquer idade! A confusão chegou a uma dimensão de alarme, que não beneficia uns nem outros e desacredita, irremediàvelmente, os organismos do Estado ligados, por estipulação, a esses assuntos. E, enquanto a TV vai somando parcelas de vitória sobre o público, o cinema, onerado de despesas, repleto de compromissos imediatos, vai-se precipitando no pélago». [B.B. em 1959]
Outubro de 1973, regressa o Cinéfilo, às quintas-feiras (os fundadores queriam que saísse para as bancas portuguesas aos sábados, o que aconteceu a partir do n.º 18, para permitir aos leitores programarem a sua semana de idas ao cinema). Da ficha técnica do n.º 1 da segunda série:
Director: Fernando Lopes (1935–2012)
Chefe de Redacção: António-Pedro Vasconcelos (1939–2024)
Redacção:Teresa Figueira [também colaboradora d’O Século Ilustrado e, como nas omissões típicos da época para as mulheres, desafia-se quem conseguir encontrar a sua data de nascimento], Fernando Cabral Martins (n. 1950), José Martins (n. 1952) e Eduardo Guerra Carneiro (1942–2004).
A agenda da semana, a cargo do jornalista Eduardo Guerra Carneiro (poeta a descobrir, de que Jorge Listopad (1921–2017) escreveu no n.º 18 da Colóquio/ Letras), Isto Anda Tudo Ligado (1970) é um dos seus livros que mal se cita, e em cinema, Jogo de Mão (Monique Rutler, 1983). B.B. escreveu no jornal Público: O poeta que se atirou para o céu. É preciso lê-lo e não perdê-lo de vista, como ouvir (fico arrepiado) a música de José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (1929–1987), Zeca Afonso (Uma Noite em Paris, na rádio Renascença, José Manuel Nunes,– Página Um,(1973) , na capa do n.º 8, de 22 de novembro de 1973 do Cinéfilo, e mais 7 páginas numa entrevista «muito censurada» (a investigadora Filipa Rosário cita o redactor José Martins, 2019).




Morreu a 5 de março de 2024 António-Pedro Vasconcelos (A-P. V.). Lembrá-lo, nos 50 anos do 25 de Abril, com um fotograma e visionamento (de 8 janeiro de 1974) com o LP Venham mais cinco (José Afonso, 1973) bem visível na redação da revista Cinéfilo, filmagem da RTP.
À rádio pública, no mês seguinte, chegava a censura discográfica numa nota interna de 1 de fevereiro: «Inconvenientes adquirir ou transmitir José Afonso (Venham Mais Cinco), Petrus Castrus (Mestre), Carlos Mendes (E Alegre se Fez Triste; O Regresso) e Leonel Sena (Rolf Knôfel)». De uma só vez, a Emissora Nacional proibia quatro discos [cito o historiador Rogério Santos]. Regresso ao programa televisivo, que pretendia fazer um balanço do ano anterior e lançar perspectivas, apresentado por Maria Margarida: — «Neste nosso primeiro Cinema 74, para além do Bolo-Rei que afinal até é redondo como as bobinas dos filmes, resta-nos desejar, como é da praxe, bons filmes, mais salas de espectáculo, enfim, um maior acesso ao cinema. Continuamos, no entanto, a não esquecer que continua a haver uma cidade em Portugal, Bragança, aonde ainda não se pode ver cinema. Por motivos que ignoramos, mas que com certeza têm muito a ver com o desprezo cultural a que certos empresários votam determinadas regiões», fim da locução introdutória. Nesse mesmo primeiro episódio, de 8 de janeiro de 1974, responde Fernando Lopes: — «A nós apresentaram-se vários [problemas principais]. O primeiro

de todos era um pouco a falta de experiência jornalística que todos tínhamos, no sentido de fabricação de uma revista e isto é muito complicado, mete muita mais gente que nós supúnhamos [toca o telefone e atende], telefone […] você desculpe esta interrupção, mas eu ia a dizer que um dos primeiros problemas foi um pouco a falta de experiência que nós tínhamos, de fabricação de uma revista destas e, sobretudo, de uma revista semanal, quer dizer… Isto é um pouco Suplício de Tântalo, a gente quando julga que… Quando estamos todos contentes porque temos um número na mão, há outro que tem de estar já a fazer… Bom, esse é um dos problemas, depois há os clássicos problemas que costumam vir nos programas dos cinemas, que são por motivos alheios à nossa vontade, esses também são graves. E depois há os problemas de insuficiências nossas, de não podermos acompanhar os assuntos com a profundidade que nós gostaríamos ou que eu, pelo menos, gostaria e suponho que, e sei que os meus colegas também gostariam e, às vezes, nós tratamos pela rama coisas que deviam ser tratadas mais a fundo, até problemas éticos, às vezes a sensação de que se está a ser injusto, que não se está a fazer a análise clara e distanciada de que se deveria fazer em relação às coisas, mas isso, por sua vez, também é o lado estimulante deste trabalho que é o de estarmos sempre em cima dos acontecimentos e de, semana a semana, podermos rectificar até os erros que vamos cometendo». Maria Margarida: — «E assim chegamos ao fim deste primeiro Cinema 74. Agradecemos a colaboração da equipa do Cinéfilo: o Fernando Lopes, António-Pedro Vasconcelos, Eduardo Geada, Teresa Figueira e Maria Helena. As imagens foram captadas pela câmara do Zé Manel Tudela, o som pelo gravador de Barbosa, assistidos pelo Torquato e pelo Lopes. A aturar o realizador esteve o assistente Domingos Pimenta e a colar os bocadinhos de filme, uns atrás dos outros e, imaginem, até mesmo com preocupações de sincronismo, o António Louro. A bem dos bons filmes, do bom cinema, estiveram na apresentação Maria Margarida, na produção Baptista Rosa, vulgo B.R. e, na realização, o sempre irritado, o sempre franzido, Alfredo Tropa».
No 1.º episódio de Cinema 74 – (de 8 de janeiro) –, A.-P. V. com Maria Margarida afloram a questão d’A Promessa (António de Macedo, 1973) [o primeiro filme português na selecção oficial de um júri do Festival de Cannes] não ter estreia marcada. O 2.º episódio – (de 5 de fevereiro de 1974) – apenas apresentado por Alfredo Tropa (1939–2020), dedica muito tempo à estreia do filme, com uma polémica que cria na altura, interrogando Macedo sobre a falta de convites para a estreia, de uma sala anunciada como esgotada, com a primeira fila vazia.
Corta para: 25 de Abril
Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo
Sophia de Mello Breyner Andresen in O Nome das Coisas (Moraes Editores, 1977).

Em Fernando Lopes, Provavelmente (João Lopes, 2008), uma conversa intimista, contada entre outros dados importantes para uma História do Cinema registada neste documentário:
João Lopes: — «Essas memórias [da baixa lisboeta boémia], de facto, não encaixam no cliché político das memórias do Estado Novo. É outro tipo de memórias…».
Fernando Lopes: — «Nã… É outro tipo de memórias e, essa, está por fazer… E penso que, embora haja referências a esse lado, nos romances, nos livros… Por exemplo, o Baptista-Bastos que tem o primeiro livro dele, o primeiro romance dele, O Secreto Adeus (1963) é isso mesmo. Eu, de resto, estive para o fazer no cinema, nunca o fiz porque sou um dos personagens do livro e não me estou a ver a filmar comigo próprio… Mas isso está por fazer… E, sobretudo, o cinema é que poderia fazer isso. Eu acho que é o meio de expressão, visual e sonoro, mais capaz de dar o que era essa Terna É a Noite, que era a nossa».
João Lopes: — «Nesse sentido, resistes à nostalgia?».
Fernando Lopes: — «Resisto à nostalgia porque tenho medo do cliché da nostalgia».
22 de junho de 1974. Corta para: n.º 37, o último da segunda série do Cinéfilo sai com um comunicado da administração, «um prejuízo anual muito elevado, de cerca de 4 milhões de escudos». Um resumo sobre a Sociedade Nacional de Tipografia, pode ser lido na Resolução n.º 90/79, de 3 de abril. No livro Media e Jornalismo em Tempos de Ditadura – Censura Repressão e Resistência (coordenação de Pedro Marques Gomes e Suzana Cavaco, Âncora Editora, 2024), conclui o investigador Jaime Lourenço um pensamento persistente na sua obra: «não deixa de ser curioso que, 50 anos depois, seja exactamente a amplitude, a liberdade, a frescura, as abordagens, o olhar crítico e o virtuosismo que caracterizaram o Cinéfilo como um marco na história do jornalismo cultural português, as mesmas particularidades que progressivamente têm vindo a rarear no jornalismo contemporâneo dedicado às artes e à cultura».
Na imprensa portuguesa regional, de resistência, o Jornal do Fundão fundado a 27 de janeiro de 1946 por António Paulouro (1915–2002), como o seu segundo caderno cultural: &etc… – Artes / Letras / Espetáculo, com 26 números entre 1967 e 1971, dirigido por Vítor Silva Tavares (1937–2015) serve como um dos melhores exemplos, entre as colunas com a enorme qualidade dos colaboradores para a resistência e projeção do jornal.
Baptista-Bastos soube através de Georges Sadoul (1904–1967) que o regime português estava no Festival de Cannes a oferecer lembranças para aliciar o júri para o Rapsódia Portuguesa (João Mendes, 1959) e B.B. contou-o no Jornal do Fundão. Até 1968 não havia reconhecimento internacional na selecção oficial dos filmes em Cannes, que não eram escolhidos por um júri oficial do festival, mas por mera representação de cada país. Com um censório e fascista Fundo do Cinema Nacional que dependia do Secretariado

Nacional de Informação (designação, a partir de 1944, do Secretariado de Propaganda Nacional), o SNI caiu-lhes em cima. B.B. contou-o também de viva voz aos seus alunos e que sempre que era vítima da censura, o diretor António Paulouro defendia os jornalistas.
De José Afonso, com o tema Os Vampiros, escreveu um outro colaborador do Jornal do Fundão: José Carlos de Vasconcelos, que viria a dirigir um novo jornal de letras, o JL – Jornal de Letras, Artes & Ideias, desde 3 de março de 1981, o quinzenário publicado até ao presente.
No primeiro número do JL, o cinema abre a polémica, com chamada de primeira página, o escritor José Cardoso Pires (1925–1998) confessa-se: «Fui claro?». «Nós sabemos todos quanto nos custou, e está a custar, e ainda vai custar, essa coisa dos Cahiers du Cinéma. As crueldades [insiste] que se cometeram em nome dos Cahiers!», disse, em entrevista ao seu brilhante amigo de infância, Fernando Assis Pacheco (1937–1995): […] «José Cardoso Pires escreveu de Londres, para o Diário de Lisboa, uma nota sobre Morte em Veneza, de Visconti. Tinha gostado: não do óbvio. Pois soube que aqui se riram doidamente, chamaram-lhe pacóvio ou coisa assim. Que o Visconti já estava ultrapassado. Que o bom era o Godard. Hoje, insiste, Morte em Veneza é finalmente gostado; e para ele Godard, mais banda desenhada, menos banda desenhada, só pode ser gostado pela irrupção episódica do humor. Boutade a propósito: Há dois mundos: o mundo francês e o mundo… Estamos em plena colónia portuguesa da França, uma espécie de Alliance Française traduzida para galaico-português».
Ao oitavo número o JL recupera a declaração de Cardoso Pires para lembrar a efeméride dos trinta anos dos Cahiers du Cinéma com uma resenha de Michel Mardore, pseudónimo de Michel Guinament (1935–2009), traduzida do Le Nouvel Observateur e depoimentos de João Lopes, António de Macedo (1931–2017), Fernando Lopes e A-P. V. que escreveu: «é sobretudo no Arts – jornal que desapareceu pelo caminho – que Truffaut irá tornar-se famoso por escrever, dizem, como Céline, com a pena molhada em vinagre, destruindo a credibilidade dos cineastas consagrados e os critérios de Cannes até entrar vitorioso, em 59 e pela mão de Cocteau, no Palácio do Festival para ganhar sem mais nem menos o prémio da mise-en-scène com o seu primeiro filme. Mas se Truffaut aparece aos olhos da profissão e da inteligentzia como o inimigo a abater, não é tanto pela irresistível paixão do cinéfilo, que ousa falar dos filmes de que gosta em nome do seu prazer, mas porque ele empunha o machado de guerra contra os filisteus do cinema francês, as falsas glórias respeitáveis que haviam feito da 7.ª arte um lúgubre desfile de adaptações académicas. E essa declaração de guerra é feita, esse sim, nos Cahiers, no limiar do ano de 54, num artigo profético, atravessado por um furor sagrado e justiceiro contra uma certa tendência do cinema francês».
A-P. V. e Gérard Castello-Lopes (1925–2011) conversam com François Truffaut «há algum tempo», refere o Cinéfilo, que publicou a entrevista em janeiro de 1974, dos números 16 ao 17.
No arquivo da RTP – https://arquivos.rtp.pt/conteudos/francoistruffaut/ –, com data de 27 de maio de 1980, outra entrevista, de A-P. V. com Manoel de Oliveira e João Bénard da Costa a François Truffaut (cerca de quatro anos antes de morrer, a 21 de outubro de 1984, com um tumor cerebral).
François Truffaut, à la minute 11 et 10 secondes (transcription de l'original en français):
« Curieusement, il y a un phénomène de nostalgie qui joue on le voit aujourd'hui parce que les films, autrefois les films ne vivent que le temps de leur vie commerciale, après c'était une vie de ciné club… Aujourd’hui [1980] le ciné club est à la télévision; la télévision diffuse des anciens films; et on voit que même le regard des intellectuels sont sur les anciens films. Vous pouvez prendre dans chaque pays, il y a un comique national, un homme qui fait rire, en faisant des bêtises, en de déguisé en femme, en pilotant un avion alors qu’il ne sait pas piloter, et cetera. Bon… »
Faisant sûrement référence au film Ademaï aviateur (Jean Tarride, 1933), François Truffaut déplace son regard de João Bénard da Costa vers Manoel de Oliveira et sourit;
« Ce produit est toujours un produit populaire, classique, traditionnel… Il existe dans chaque pays: il a été illustré en France par Fernandel [Fernand Joseph Désiré Contandin] (1903–1971); en Italie, je ne sais pas, mais par ça dire [João Bénard da Costa dit Totò], par Totò, avant, bon… Et ce produit est toujours méprisé, mais quand ce comique meurt, tout d’un coup, il y a une espèce d’unanimité qui se fait en sa faveur, s’est réhabiliter et cette chose qui était méprisée, méprisable, devient culturel. Mais, moi, je pense, qu’elle était au départ, du moment que vous voyez donc que, je fronce, je me refuse quoi cette division de ce qui est culturel de ce qui n'est pas, parce que je crois qu'on ne le sais pas et c’était la grande force de [Henri] Langlois (1914–1977) avec la Cinémathèque française, c’est que refusé de faire des discriminations et Langlois faisait des hommages à tous les cinéastes existants, dont on pouvait réunir les films, il se refusaient à les hiérarchiser et je crois que ça c'est bien. C’est bien de hiérarchiser dans les conversations, dans les conversations de fanatiques, parce que les fanatiques sont les aficionados, c’est la loi de jeu, mais dès que c’est imprimé et dès que ça a une forme pédante, je suis contre ».

Dans le prochain numéro de la revue gray-film, en suivant la chronologie des souvenirs, nous aborderons Narcisse (Ayres d’Aguiar, 1939), une comédie populaire extraordinairement réussie à l'époque, que j’ai eu l’occasion de voir dans les archives de la Filmoteca Española, grâce aux dons de collections d’enregistrements personnels d'émissions télévisées en copies privées éphémères auxquelles aucune valeur n'est attribuée.

François Truffaut, ao minuto 11 e 10 segundos (da transcrição do original em francês):
«Curiosamente, há um fenómeno de nostalgia que desempenha um papel, vê-se isso hoje porque os filmes, antigamente os filmes apenas duravam o tempo da sua vida comercial, depois tinham uma vida de cineclube… Hoje [1980] o cineclube está na televisão; a televisão passa filmes antigos; e vemos que até o olhar dos intelectuais está voltado para os filmes antigos. Pode eleger em cada país, há um comediante nacional, um homem que faz rir, a fazer disparates, a vestir-se de mulher, a pilotar um avião mesmo sem saber pilotar, etc. Bem…»
Referindo-se certamente ao filme Ademaï aviateur (Jean Tarride, 1933), François Truffau desvia o olhar de Bénard da Costa para Manoel de Oliveira e sorri;
«Este produto é ainda um produto popular, clássico, tradicional… Existe em cada país: foi ilustrado em França por Fernandel [Fernand Joseph Désiré Contandin] (1903–1971); em Itália, não sei, mas por aí diz [João Bénard da Costa diz Totò], por Totò, antes, bem… E este produto é sempre desprezado, mas quando este comediante morre, de repente, há uma espécie de unanimidade que está a seu favor, foi reabilitada e essa coisa que era desprezada, desprezível, torna-se cultural. Mas, penso eu, que foi no início desde o momento em que se vê, portanto, música, recuso essa divisão do que é cultural do que não é, porque acredito que não sabemos isso e essa foi a grande força de [Henri] Langlois (1914–1977) com a Cinemateca Francesa, foi que se recusou a fazer discriminações e Langlois prestou homenagem a todos os cineastas existentes cujos filmes puderam ser reunidos, recusou-se a hierarquizá-los e acho que isso está bem. Está bem hierarquizar nas conversas, nas conversas de fanáticos, porque os fanáticos são os aficionados, é a lei do jogo, mas assim que seja impresso e assim que tenha uma forma pedante, eu sou contra».
No próximo número da revista gray-film, seguindo a cronologia das memórias, chegaremos a Narcisse (Ayres d’Aguiar, França, 1939), traduzido Narcisse, o errado (Brasil), Narciso Aviador (Portugal) e Piloto a la fuerza (Espanha), comédia popular extraordinariamente bem conseguida na época. Dos donativos de particulares com gravações pessoais de difusões televisivas em cópias privadas efémeras, espólio ao qual não se atribui valor. Tive a oportunidade de ver o filme em Madrid, graças a um destes doadores e ao cuidado arquivístico da unidade de visionamentos da Filmoteca Española.





«O servilismo francófilo — e americanófilo — que isso representou, faço-me entender? Esta coisa dramática de veres um filme ser elogiado pelo óbvio ou condenado por não ter nada de óbvio.»
José Cardoso Pires entrevistado por Fernando Assis Pacheco para o 1.º número do JL, 1981.
«[…] não é indispensável ler os Cahiers para construir um cinema português, mas, retomando os votos de Daney e Toubiana, será preciso amar o cinema.» ~ João Lopes
«Só uma minoria intelectual obtulusa e sub-gaulesa, que felizmente produz mais papel para amarelecer do que celulóide para ficar, se pode preocupar com a «influência» dos Cah... não sei quê du cinêmá sobre o bom do animatógrafo que por cá se fez.» ~ António de Macedo
JL, n.º 8, 1981.
