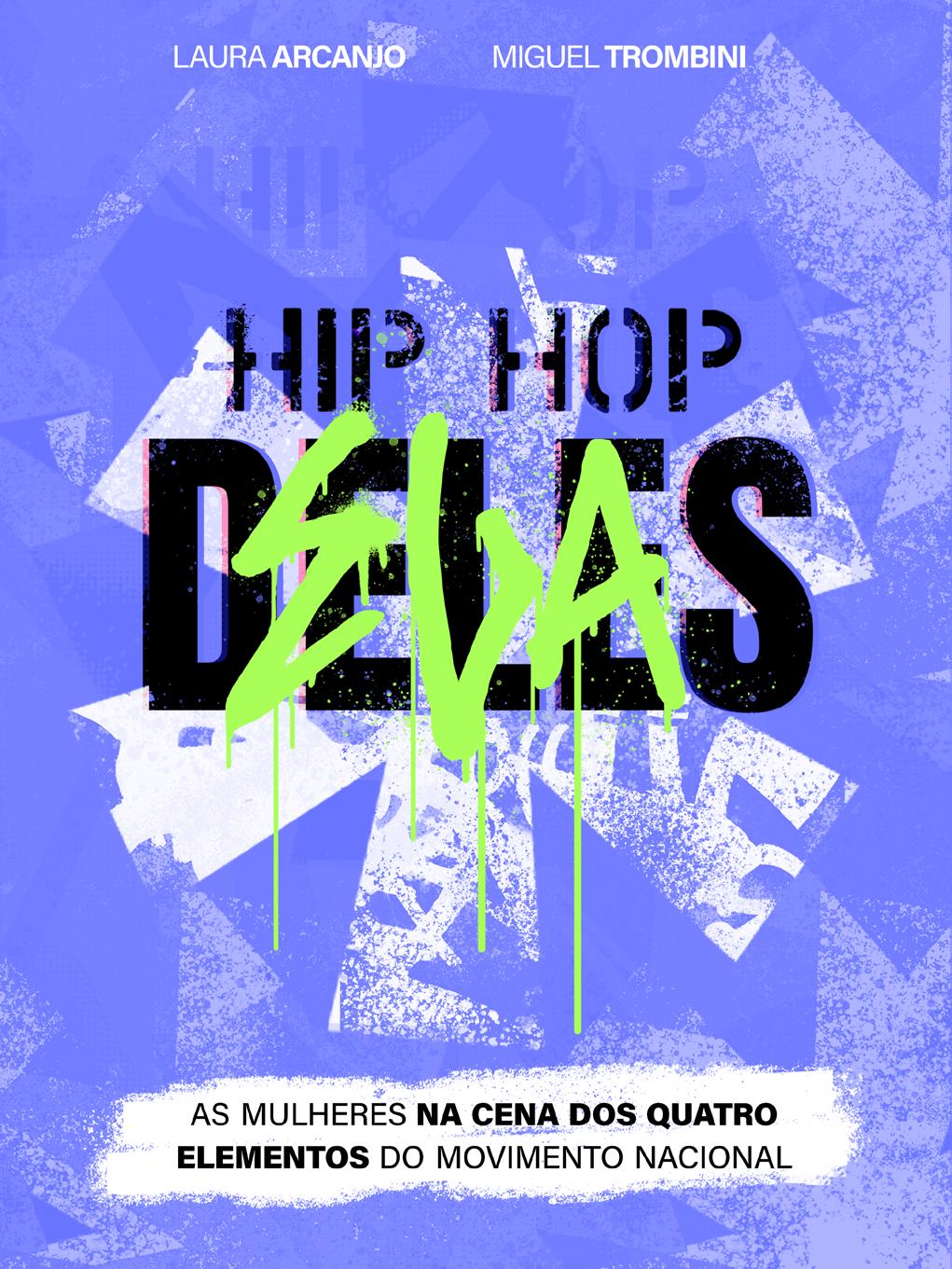
Coordenação/Organização:Prof. Dr. Herom Vargas Silva
Fotografia: Maria Eduarda Belarmino
Recursos Gráficos: Vinicius Alves Souza
Diagramação: Marcelo Filipe Pereira Mendes

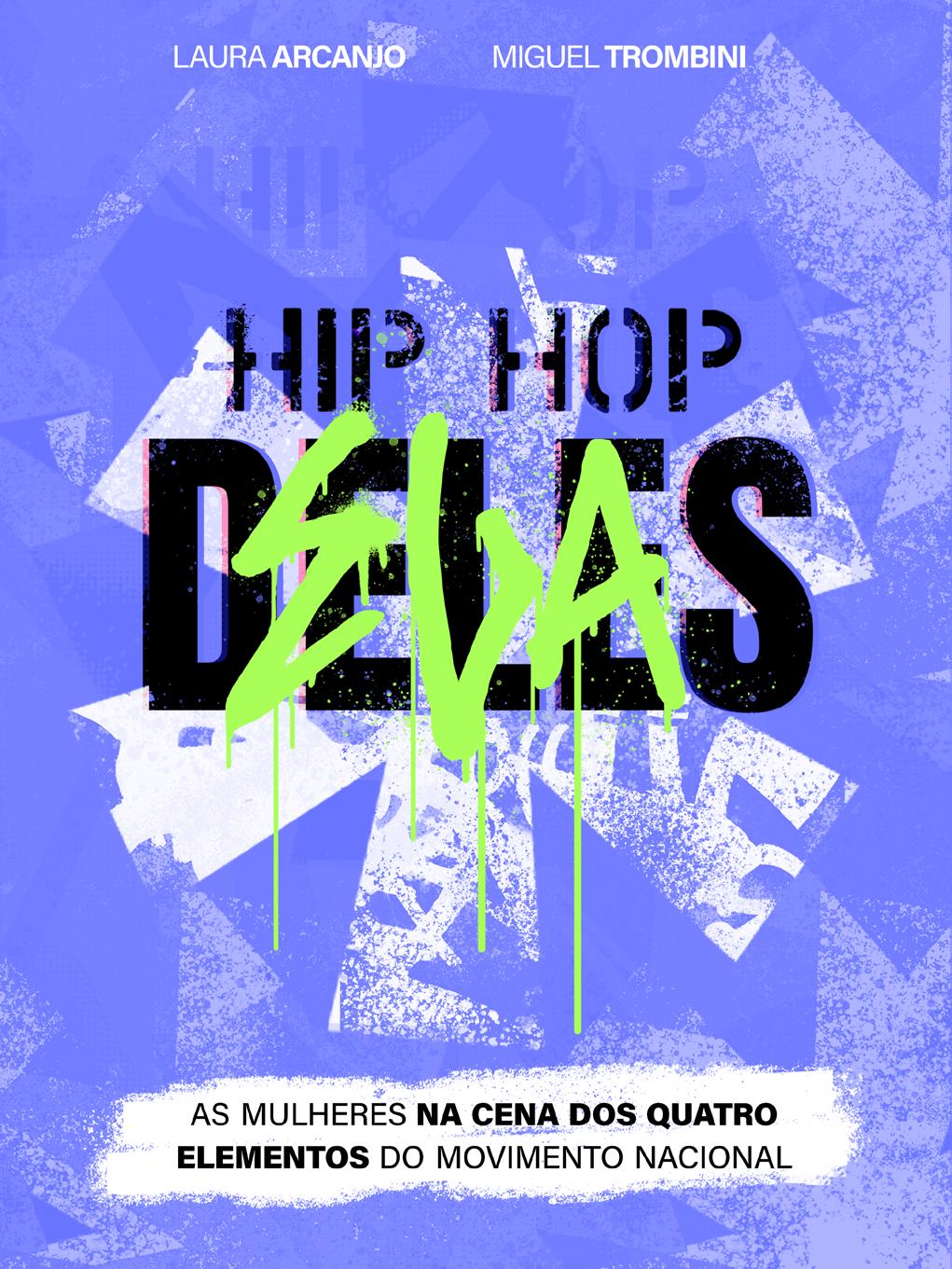
Coordenação/Organização:Prof. Dr. Herom Vargas Silva
Fotografia: Maria Eduarda Belarmino
Recursos Gráficos: Vinicius Alves Souza
Diagramação: Marcelo Filipe Pereira Mendes
Ar21h Arcanjo, Laura
Hip hop dElas: as mulheres na cena dos quatro elementos do movimento nacional / Laura Arcanjo, Miguel Trombini. 2022.
134 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - Diretoria de Graduação da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2022. Orientação de: Herom Vargas da Silva.
1. Jornalismo 2. Hip hop 3. Mulher 4. Machismo 5. Periferia 6. Cultura I. Trombini, Miguel II. Título.



À nossa família, por todo apoio, incentivo e acolhimento desde o momento em que escolhemos ser jornalistas. Laura: em especial à minha mãe, Gisele, à minha avó, Nilza, e ao meu avô, Claudionor. Miguel: em especial à minha mãe, Lucenilde, e ao meu pai, José Luiz.
Aos nossos amigos, por acreditarem em nós e pela paciência nos momentos de ausência durante esses quatro anos.
Aos profissionais de comunicação que já passaram pelas nossas vidas e deixaram um pouco de suas experiências conosco.
Aos nossos professores da faculdade, por nos mostrarem como a educação pode ser uma ferramenta poderosa de conscientização de uma sociedade.
Às mulheres do movimento hip hop, pela força e coragem transmitidas por meio desse trabalho, o que nos motivaram a finalizar o projeto.
A todos os moradores de periferia, que foram fundamentais na criação e disseminação da cultura hip hop, e infelizmente ainda sofrem diariamente com a repressão policial e violência do Estado.
Nós nos conhecemos desde o primeiro semestre da faculdade. Talvez por predisposição do destino ou porque ficamos sem grupo no primeiro trabalho do semestre, nunca saberemos. Mas, desde então, percebemos que as nossas ideias eram muito semelhantes e as nossas motivações para a atuação no jornalismo estavam muito alinhadas. Fizemos diversos projetos com pautas sociais, envolvendo temas como mulheres refugiadas, pessoas LGBTQIAP+ de periferia, educomunicação, pessoas com deficiência, entre outros. Tivemos a sensibilidade de abordar esses assuntos ao longo da graduação pois estamos inseridos em grupos socialmente marginalizados: um homem trans gay e uma mulher cis lésbica.

Apesar do clichê, meu contato com o hip hop começou por meio dos Racionais MC’s. Desde então, sempre estive de olho em outros nomes notórios da cena, como Djonga, Emicida, Negra Li e Criolo. Quando a adolescência chegou, trouxe à tona todos os questionamentos acerca da minha sexualidade e identidade de gênero, e o hip hop me proporcionou contato com artistas como Linn da Quebrada e os integrantes da Quebrada Queer, que me ajudaram muito no processo de autoaceitação. Enquanto homem trans e gay, vi nestes artistas uma representação de euforia e justiça que não tinha testemunhado até então.
Meu contato com o movimento hip hop se deu desde muito cedo, mesmo eu não tendo noção de que estava envolvida numa cultura que abrangia diversos elementos. No fundamental, fazia aulas de street dance e a minha professora tinha todo o estereótipo de b-girl (dançarina de breakdance) que a gente via da galera dos Estados Unidos. Depois, comecei a andar com os meninos do skate na adolescência, o que me aproximou do rap e das batalhas de rua aqui no ABC Paulista. Desde então, passei a encarar o hip hop como um estilo de vida, acompanhando diversos artistas, indo a eventos, shows, festivais, e dando meu apoio como público. O movimento, para mim, é como o grito dos excluídos. É a manifestação de uma expressão genuína de resistência e luta. Não é à toa que muitas pessoas falam sobre o poder de transformação social que essa cultura tem. O hip hop já salvou muitas vidas. E a minha foi uma delas. Por isso, não poderia deixar de homenagear um movimento que admiro tanto.

Mas, com o olhar crítico, sabemos que não é um universo perfeito, e fomos em busca do que precisava ser abordado, instigado e exposto de dentro dele. Conversamos com oito mulheres incríveis que nos permitiram contar suas histórias a partir das nossas percepções. Foi uma honra conhecer todas elas e esperamos que as questões abordadas gerem debates produtivos sobre como podemos evoluir uma cultura tão inspiradora, mas que ainda tem suas ressalvas.

Beirava três da tarde quando Karina Ramos de Jesus, vulgo 3Kvolts, é anunciada. A terceira artista a se apresentar e única mulher a subir no palco do 23º aniversário da Casa do Hip Hop de Diadema, região metropolitana de São Paulo, caminha confiante diante de uma plateia morna e apática à voz feminina que ecoa das caixas de som.
Há outras atrações previstas para aquele dia, como Dexter e Rincon Sapiência. O primeiro, conhecido como o Oitavo Anjo, é um paulistano que já cantou ao lado de outros grandes nomes de dentro do hip hop e fora dele, incluindo Seu Jorge, Mano Brown e Djonga. Rincon, por sua vez, ganhou notoriedade em 2000 com o single Elegância e entrega uma forma de fazer música que inspira a nova geração, com sua marca registrada de mensagens antirracistas e a valorização da periferia. Esses dois artistas nitidamente chamam muito mais atenção do que uma mina da cena independente.
Mas realidade não parece atingir 3Kvolts. Ela tem três músicas autorais, todas com o empoderamento feminino como ponto de partida e linha de chegada. Aqueles que acompanham a apresentação balançam o corpo sem pressa, quase como se estivessem curtindo uma música ambiente ao invés de um show de rap. Karina não repara.
Com o microfone na mão e as palavras na ponta da língua, ela dá seguimento à performance para quem tiver ouvidos interessados, mente aberta e estômago suficiente para digerir a dose de veneno bem diluída entre os versos. Unhas longas e maquiagem impecável inspiram a feminilidade na qual ela se sente confortável, e é por meio dela que a MC fala sem medo, direta, rimando sobre se bancar sozinha e deixar claro para o homem que “ele não é chefe”, como sublinha o verso de uma de suas letras.
Entre uma música e outra, ela grita: “Tem mulher ‘braba’ na casa hoje?”. A resposta vem, mas é tímida, quase um sopro de brisa que anuncia garoa. A plateia não parece engajada, o que não torna a mensagem menos importante. 3Kvolts não perde a energia, tampouco a determinação. As músicas saem dela e fluem pelo corpo conforme a MC dança, rebola, joga os quadris e acompanha o beat, alheia ao fato de que sua apresentação, programada para o começo
do evento, passa despercebida em comparação aos homens que ocupariam aquele mesmo lugar dali em diante, em maior número.
No meio da apresentação, o equipamento de som dá um problema. Enquanto tentam resolver, a MC conversa com a plateia. “Acontece nas melhores famílias”, brinca com a situação. “Estão gostando do evento?”, pergunta. Como da última vez, a resposta vem baixa, quase silenciosa. Se isso a abala, Karina não demonstra. Ela agradece ao evento pelo convite e ressalta a importância de fazer música na rua, mas os espectadores não se interessam totalmente pelo que ela tem a dizer, salvo algumas mulheres que a encaram com olhos vidrados, como se vissem a si mesmas.
Uma vez que a falha no som é consertada, ela retoma as músicas. Quando a apresentação chega ao fim, os aplausos são pouco entusiasmados. 3Kvolts agradece a plateia mesmo assim e se retira, parecendo satisfeita com a própria performance.
*
O domingo de 7 de agosto de 2022 amanheceu com a promessa de chuva e nuvens cinzas. Em qualquer outro contexto, seria o clima perfeito para espantar as pessoas das ruas, mas o bairro Canhema, em Diadema, se movia contra qualquer expectativa. Erguida na rua 24 de Maio, a Casa do Hip Hop reabriu as portas após dois anos de pandemia para a sua festa de aniversário de 23 anos.
O casarão abraçou os quatro elementos da cultura em suas paredes, pátios e pilastras: MC, DJ, breakdance e grafite. Uma união bagunçada e familiar que transbordou para a rua – mais especificamente para o palco montado no fim da pequena ladeira, diante do qual o público poderia assistir às apresentações de personalidades da cena.
Batalhas de MCs se certificariam de aquecer aquele dia frio ao passo em que dançarinos de break agitavam o pátio interno da Casa do Hip Hop. Entre os revezamentos, de quando em quando crianças, cujas idades com certeza não passavam dos 4 anos, imitavam os adultos com inocência determinada, sentindo-se invencíveis e livres sob aquele teto. Os passos experimentais guiados pela música provinda das caixas de som se encontravam com a experiência madura de quem respira arte. Era um encontro de gerações atravessadas pelo hip hop.
Nas paredes do lado de fora, que delimitam o pátio a céu aberto no centro do casarão, grafiteiros e grafiteiras escolhem uma parede e tiram os materiais das bolsas. Entre pincéis e spray, cada um
mergulha no próprio mundo enquanto traçam histórias nos muros que gritam por meio das cores e do cheiro de tinta fresca. Algumas pessoas, curiosas, paravam em frente às telas urbanas e aguardavam os traços formarem desenhos e revelarem representações dos artistas, que deixavam um pouco de si em cada pintura daquela.
A partir das duas da tarde o público começa a chegar em maior quantidade, quase sempre em grupos, transitando entre o palco e o casarão. Os shows reverberam pelo bairro como um raio de sol entre as nuvens pesadas que carregam o domingo para uma tarde cinza. A Casa do Hip Hop, embora despretensiosa por fora, carrega a responsabilidade de ser a primeira instituição do país dedicada totalmente à cultura advinda do subúrbio do Bronx, em Nova Iorque, nos anos 1970. À luz dos 23 anos, traz de volta a nostalgia da inauguração, em julho de 1999, e de lá para cá oferece oficinas de breakdance, grafite, rap e DJ. No coração de Diadema, cidade muitas vezes esquecida em comparação aos vizinhos da região do ABC Paulista São Bernardo do Campo e Santo André, o hip hop ainda respira. Conforme as primeiras apresentações preenchem o palco, o público começa a ganhar maior peso. Logo após a performance de 3Kvolts, o mestre de cerimônias sobe ao palco para relembrar os visitantes das demais atrações do dia. Karina caminha despreocupada, cumprimentado quem passa por ela e a reconhece. Ao ser abordada, é solícita e sorridente. A Casa do Hip Hop é a protagonista do dia, e a MC dá os parabéns com um punhado de gratidão.
“Eu fazia SENAI no bairro de trás e passava aqui na frente todos os dias”, conta com um brilho nostálgico nos olhos. “Até então não tinha contato com ninguém daqui, mas sempre tive vontade de entrar e ver como eram as coisas. Só estou conseguindo fazer isso agora. Tem muitas crianças que vêm aqui, e é muito importante que a criançada se envolva com a cultura hip hop”.
Os olhos dela percorrem a rua e o palco no final dela, de onde saiu há poucos minutos, quase como se já quisesse estar lá novamente. “A gente é periferia”, ressalta. Ter nascido e sido criada em Diadema faz dela uma das mulheres atuantes na cena do hip hop local. “É a nossa cultura. Nós somos da rua, da ‘quebrada’. Estes shows de rua não podem acabar, porque eles salvam vidas – falo isso por mim e por muitos outros. Eu vi que tem gente reclamando que hoje, em pleno domingo, tem ‘bagunça’ aqui na rua, mas eu pessoalmente acredito que o incômodo se dê ao fato de ser hip hop. Se fosse outro estilo não teriam tantas reclamações, porque, infelizmente, para algumas pessoas, ainda se trata de algo
marginalizado”.
A sombra do apagamento recente e recorrente transparece no semblante da MC por um momento. A baixa presença feminina atinge feridas abertas, mas ela não rejeita o assunto – tal como suas músicas também não. Tocar no que machuca é necessário, e ela é firme ao relembrar que o evento tem uma grande quantidade de homens, enquanto as mulheres continuam às sombras.
“Hoje, de solo, só tem eu, além de outras meninas que ficam nos bastidores ou na parte de produção, mas ali no combate ou em dupla não tem ninguém”, lamenta. Ainda assim, não tira o sorriso do rosto ao se misturar com o público, que só aumenta conforme o dia avança. Mais nenhuma voz feminina sobe ao palco, mesmo após 23 anos de história, o que nos chama a atenção enquanto jornalistas e fãs do movimento hip hop
A breve conversa com 3Kvolts e a programação da Casa de Hip Hop de Diadema para esse evento despertaram alertas. Os questionamentos que ficaram foram: por que a cena ainda é predominantemente masculina, mesmo com a ascensão de artistas do gênero feminino nos últimos anos? Apesar dos avanços nas discussões sobre protagonismo feminino e igualdade social, por que as mulheres ainda não conseguem ocupar esses espaços de maneira legítima?
De lá para cá, só pensávamos em onde estariam as DJs, as rappers, dançarinas de break e as grafiteiras do estado de São Paulo em pleno 2022, o ano em que a cultura hip hop comemora quatro décadas de história no Brasil. Ir atrás dessas pessoas, ouvir suas histórias, participar dos eventos e acompanhar a rotina de quem está na ativa para que a participação feminina aconteça fez com que a gente percebesse que a discriminação vem desde o espaço em que o movimento se manifesta – nas ruas e majoritariamente no período da noite – até a avaliação das habilidades técnicas das características de cada elemento, com as mulheres, muitas vezes, sendo vistas como aprendizes e submissas ao homem.
Esse livro é uma celebração da existência do hip hop, que completa 50 anos mundialmente em 2023, com um legado de transformação de realidades e sentimento de orgulho e pertencimento nos territórios e culturas periféricas ao longo desse tempo. Mas também – e principalmente – uma reflexão sobre como o movimento, que funciona a partir de uma construção política, social e racial, ainda não está totalmente alinhado com as discussões de gênero na perspectiva das oportunidades, da representação, do reconhecimento e do incentivo às mulheres.

Voltando para a história da festa, os irmãos de origem jamaicana Clive Campbel, mais conhecido como DJ Kool Herc, e Cindy Campbell realizaram uma block party em 1973. Nela, foi criado um som chamado de break, com trechos da música que quebram o ritmo quando dois discos idênticos são girados na mesa de mixagem. Para complementar a performance, um amigo de Herc, Coke La Rock, pegou um microfone e começou a improvisar rimas também. Sua forma de comentar e exaltar os dançarinos, a quem chamava de break-boys e break-girls, mantendo uma fala ritmada ao microfone junto do beat que ele próprio tocava enquanto incentivava a pista, foi chamado de rapping. Depois de tanto impacto, todos os DJs de disco e funk passaram a buscar novas formas de animar as festas.

Ao mesmo tempo que essas tendências começaram a dominar as boates na segunda metade da década de 1970, os artistas também realizavam imensos eventos ao ar livre, que reuniam multidões, o que estava predestinado a se espalhar pelo país em pouco tempo e começou a tomar forma em 1979, quando Sugarhill Gang lançou Rapper’s Delight, oficialmente reconhecido como o primeiro disco de rap da história. A música ficou entre as mais tocadas do
país, abrindo um espaço que só cresceria a partir de então. O canto falado, o ritmo marcado, a letra que expõe a realidade e o próprio ato de cantar e dançar, tudo que viria a determinar o gênero já estava lá. Assim, os EUA e em seguida o mundo eram apresentados a uma música e um movimento que se tornariam um dos mais importantes de todos os tempos, bem como aos desejos, jeitos e discursos de uma parcela da população que jamais voltaria a se calar.
Nos primórdios do hip hop, DJ Kool Herc e Cindy Campbell não buscaram caminhos comerciais para lançar uma carreira, mas aquela festa foi um grande marco que influenciou o trabalho de nomes como Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa, dois dos primeiros artistas realmente populares nesse universo. Em 12 de dezembro de 1973, foi fundada a Universal Zulu Nation, um grupo internacional de conscientização da cultura hip hop liderado pelo DJ Afrika Bambaata. O
coletivo disseminava as expressões culturais e promovia o movimento como a melhor alternativa para salvar os jovens, tendo a paz, o amor, a união e a diversão como princípios fundamentais.
Da visibilidade até a demarcação de território de gangues, a expressão encontrou outras características que também traduziam esse sentimento de pertencimento na sociedade. Então, foram definidos quatro elementos essenciais: o grafite simbolizava a arte estampada e escrita; o rap, a forma cantada pelo MC (mestre de cerimônia); o breaking, a expressão corporal; e o DJ (disc jockeys), o responsável pela união e celebração disso tudo, trazendo o conhecimento musical por meio dos toca-discos. Ou seja, o hip hop tem uma influência que vai além da música e da dança, passando também pela arte e pela moda. Ao andar pelas ruas, não é difícil encontrar pessoas vestindo roupas largas, bonés de abas retas, tênis com cadarços largos e coloridos, colares. Nas culturas e abordagens nãoocidentais, a estética não se trata apenas de status, mas também de identidade e ancestralidade.
A palavra hip é utilizada na língua inglesa desde 1898 para se referir a algo atual, acontecendo no exato momento em que é falada. Já o hop faz referência ao movimento de dança.
Keith “Cowboy” Wiggins e Grandmaster Flash são creditados pela primeira aplicação do termo hip hop, em 1978. Enquanto Flash provocava um amigo que tinha acabado de ingressar ao Exército dos Estados Unidos, repetindo as palavras “hip/hop/hip/ hop” para imitar a cadência rítmica dos soldados, Cowboy passou a utilizar a sequência para marcar o ritmo dos MCs no palco. Como os grupos frequentemente eram compostos por um DJ e um rapper, os artistas foram chamados de “hip-hoppers”.
O surgimento do hip hop no Brasil se parece muito com a origem estadunidense, vindo das periferias no início dos anos 1980 por influência dos EUA. Jovens se encontravam na Rua 24 de Maio, no centro de São Paulo, e na estação do metrô São Bento para treinar passos de dança de rua, rimar, ouvir as novidades vindas de fora e compartilhar conhecimento. Com o tempo, a estação São Bento se tornou ponto de referência para festivais com campeonatos e mostras de breaking, apresentações de grupos de rap com a presença de mestres de cerimônias que animavam o evento, DJs e grafiteiros que também ilustravam jaquetas e calças jeans para crews.
Grupo, coletivo, comunidade, equipe. Ou seja, uma união de pessoas que têm objetivos ou ideais semelhantes e trabalham juntas. É um termo da cultura hip hop que tem origem nas gangues de rua, então existem crews de grafiteiros, crews de b-boys e também crews dos elementos.

Relembrando o contexto histórico, os anos 1980 também não foram fáceis no Brasil. Em 1985, chegava ao fim a ditadura militar e o país passava por uma redemocratização. A epidemia de crack começou a se alastrar nos EUA e chegou em solo nacional. Nas periferias, a repressão e resquícios da ditadura continuavam, e o centro de São Paulo foi o local de encontro de grupos que se identificavam com o som e a mensagem do movimento de contracultura que crescia nos Estados Unidos. Por aqui, ele gerou curiosidade e identificação.
Antes da consolidação do hip hop, porém, rolaram dois acontecimentos importantes no Brasil. Primeiro, o show do grupo norte-americano Public Enemy, em 1984, na cidade de São Paulo. Depois, em 1988, saiu a primeira coletânea de rap, o Hip Hop Cultura de Rua, lançada pela gravadora Eldorado e produzida por Nasi e André Jung, integrantes do grupo Ira!. Foi nesse projeto que Thaíde e DJ Hum se apresentaram para o público antes de lançarem o álbum Pergunte a Quem Conhece,
em 1989. Também em 1989, o lançamento do álbum Consciência Black Vol. I marcou o grande início do grupo Racionais MC’s. Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay traziam em suas letras falas mais politizadas sobre a situação das periferias da zona Sul de São Paulo. Além do grupo do Capão Redondo, a rapper Sharylaine foi uma das primeiras mulheres dentro de um movimento completamente masculino. A voz de protesto ecoou em diversas periferias e, a partir dos anos 1990, o rap começou a crescer fora do centro de São Paulo.
A música e o breaking se desenvolveram praticamente juntos no Brasil, mas a cena do grafite já se movimentava desde os anos 1970, como forma de intervenção artística e protesto durante a ditadura. Alex Vallauri foi um dos pioneiros da expressão artística no Brasil. O etíope radicado no país começou a pintar no cais do porto de Santos (SP), cidade onde vivia com sua família, e retratava os personagens daquele lugar. Suas artes de protesto foram importantes
para movimentos políticos, como o Diretas Já. A década de 1980 também trouxe homens e mulheres que se deslocavam de suas cidades e estados para participarem dos encontros em São Paulo. Nomes como Kika Maida, Rose MC, Bete, Baby, Renata, Lady Rap, Nelson Triunfo, Nino Brown, MC Jack e Rooney Yo-Yo, que ao longo dos anos se tornaram referências como pioneiros. Mais do que isso, construíram um legado e serviram de inspiração para a nova escola. Muitos continuam até os dias de hoje na ativa, cantando, dançando, discotecando ou grafitando.
No entanto, é necessário evidenciar que enquanto muitos homens tiveram oportunidades de gravar LPs e se destacarem na cena do hip hop como artistas, em matérias nos jornais, venda de discos e músicas tocadas nas rádios, o caminho das mulheres seguiu de forma diferente, com pouco destaque da imprensa ou investimentos de patrocinadores. A maioria das mulheres que estava desde o início se manteve firme, apoiada muitas vezes apenas pela ideologia e utilizando o movimento como ferramenta de expressão devido à necessidade de manifestar as demandas femininas por meio da arte. Quando o hip hop começou a tomar forma, era dominado por homens e muitas mulheres apareciam dançando ou como backing vocals, sempre no papel de coadjuvantes, não no de protagonistas. Naquela época, as mulheres eram citadas nas letras de forma negativa ou com apelo sexual. Há inúmeras músicas de rappers de sucesso que objetificam ou maltratam a figura feminina.
a existência de Cindy como a irmã do DJ Kool Herc, mas além de dividir o mesmo DNA com o jamaicano, partiu dela a ideia de realizar a lendária festa do dia 11 de agosto de 1973. Ela foi a idealizadora e primeira produtora de um evento de hip hop. Ambos contribuíram para a união dos quatro elementos em uma época em que a manifestação pela arte se fazia necessária devido a tantos problemas sociais. É mais que justo, então, citar o nome de ambos como precursores dessa cultura que se disseminou pelo mundo. Além disso, Cindy foi b-girl, antes do termo existir, e também grafiteira. Outro fato que podemos citar é o lançamento da música U.N.I.T.Y., de Queen Latifah, em 1993 como forma de protesto contra a violência contra as mulheres e o desrespeito com elas na cena do hip hop. Queen Latifah foi uma das primeiras a falar claramente sobre problemas que a percepção masculina não alcança porque não há vivência.

LP
O vinil ou LP (long play) foi o primeiro formato de distribuição em massa de música. Teve seu auge na década de 1970, porém, com o surgimento dos CDs nos anos 1990, caiu em desuso. Entretanto, algumas pessoas continuaram fiéis a esse formato, sobretudo os DJs, que acreditam que o vinil confere uma experiência artísticomusical mais completa.
No Brasil, essas questões não são diferentes. Quando lembramos dos pioneiros, logo vêm os nomes de Thaide & DJ Hum, Pepeu, MC Jack, Mike ou os Racionais MC’s. Mas poucos se recordam de Sharylaine, seja por falta de conhecimento ou por um machismo que, mesmo inconsciente, produz esse apagamento das mulheres. Sharylaine estava presente em um dos primeiros discos de rap do país, o Consciência Black Vol. I, de 1989. Outro exemplo foi Dina Di, que em 1994 fundou o grupo Visão de Rua, que posteriormente lançaria a sua primeira canção de trabalho chamada Confidências de uma Presidiária, relatando aspectos do sistema carcerário feminino. Em 2004, Dina Di anunciou Noiva de Thock, na qual fala sobre como é ser a companheira de um presidiário, como se trouxesse um outro lado da história de Diário de um Detento, dos Racionais. Ela também falava em algumas entrevistas sobre como ficava cansada em ter que passar uma imagem masculina para ter
respeito, seguindo um tipo vestimenta e postura, pois percebeu que dessa forma a olhavam de maneira diferente e a levavam a sério, coisa que não aconteceria se ela tivesse um jeito mais doce e usasse vestidos.
É evidente que existe um protagonismo masculino que deixa questionamentos sobre a participação feminina na história do hip hop. Se observarmos que as mulheres integraram os primeiros grupos dessa cultura, abre-se o espaço de reflexão sobre como socialmente elas são lidas, tanto por homens, quanto pela sociedade em geral. Somada à narrativa patriarcal, a fundamentação das ideias sobre gênero no hip hop atravessa a realidade feminina ao longo dos anos e do crescimento do movimento. Desde que essa cultura se construiu no Brasil, mulheres sempre lutaram para conquistar seu espaço na cena. Esse fato foi levado em 2010 para o primeiro Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop, e, em seguida, foi fundada a Frente Nacional das Mulheres da Cultura, projeto que destaca a importância da participação feminina na sociedade por meio de atividades temáticas voltadas à cultura, à política e à cidadania. A principal luta por parte dessa iniciativa é quanto à valorização da identidade feminina, com destaque não só à questão racial e social, mas fazendo com que isso seja trabalhado junto com a normalização da presença feminina na cultura.
Embora a liberdade de se apresentar como mulher do hip hop esteja em crescimento por conta da pauta feminina e de mulheres que lutam pela conquista de espaços antes não ocupados, uma das maiores
questões que parece não ter sido ainda superada é: o hip hop é coisa para mulher? Uma cultura se caracteriza por ter uma expressão própria, com a qual pessoas se sentem identificadas. Desse jeito, ela se torna a oportunidade de representação e afirmação desses sujeitos, atravessando qualquer um independente de gênero ou outras questões. Quem consegue tornar hegemônica sua narrativa, perpetua uma versão dos acontecimentos e decide quais figuras terão destaque ou não.
A partir disso, quem são as mulheres presentes na narrativa do hip hop? Precisamos trazer à luz essas inquietações, para que seja superada a ideia de que o espaço legítimo dessa cultura só pertence aos homens. Por isso, é necessário recuperar a história e redistribuir o protagonismo. A verdade é que a mulher sofre com preconceitos antigos, mas continua a conquistar cada vez mais seu merecido espaço.




O nome rap vem da abreviação da expressão em inglês rhythm and poetry, que significa ritmo e poesia. Ou seja, a música tem uma batida cadenciada e a letra é entoada com rimas numa mescla de canto e fala na forma de um discurso, com bastante informação e pouca melodia, geralmente falando do contexto social, político e cultural, com temas como racismo e violência.
Apesar do movimento hip hop ter originado no bairro do Bronx, unido os quatro elementos naquela festa histórica dos irmãos jamaicanos, o rap como estilo musical já existia anteriormente. Ele nasceu na Jamaica, em 1960, ficando popular quando músicos puderam ter equipamentos que conseguiam amplificar o som. Dessa forma, qualquer pessoa podia escutar as músicas na rua. As letras, na época, não tinham compromisso com
discursos políticos, mas, depois de um tempo, questões sociais se tornaram tema central das rimas, e quem sentia vontade de rebater as ideias era livre para improvisar versos na hora. Foi daí que nasceu a batalha de rimas, muito presente nos encontros atuais do rap. No mesmo período, os artistas começaram a utilizar a própria boca para reproduzir as batidas de uma bateria e outros efeitos sonoros, o chamado beatbox. Assim, rappers não precisavam necessariamente de um equipamento de som para acompanhar as letras.
Com a grande crise social e econômica sofrida pelo país no começo dos anos 1970, vários jovens resolveram ir para os EUA, mais precisamente em Nova Iorque, carregando esse novo estilo musical em suas bagagens, como afirma Mariana Beatriz Souza Queiroz em sua monografia intitulada Representação do Racismo na Cobertura de um Site Especializado em Rap: “O rap é originário da América Central e foi levado aos Estados Unidos por volta dos anos 1970, por jamaicanos que se mudavam para Nova Iorque em busca de novas oportunidades para sair da pobreza”. A poesia rimada e ritmada e os novos equipamentos de som causaram alvoroço nos guetos norte-americanos. As pessoas se identificaram com o que era transmitido pelas composições e aos poucos introduziram as demandas do povo americano e as gírias do cotidiano ao ritmo jamaicano, com o estilo sendo integrado ao hip hop.
No Brasil, o rap chega em meados de 1986,
e a primeira evidência do estilo foi em São Paulo. As apresentações costumavam acontecer no Teatro Mambembe, realizadas pelo DJ Theo Werneck e, na época, não era um tipo de música popular entre as pessoas, tanto por vir das periferias, quanto por associarem as letras à violência. Mas como não fazer letras desse cunho, com críticas ao Estado e à polícia, uma vez que o estilo retrata o cotidiano das periferias? Mesmo não sendo aceita por boa parte da sociedade, com algum custo, essa vertente musical conseguiu espaço na mídia radiofônica no início de 1990.
A relevância social presente no rap brasileiro é um ponto muito importante, pois, por meio das letras, muitos artistas incentivam os jovens a se afastarem da criminalidade. O estilo fica popular aqui como a poesia das ruas e é combinado com outros gêneros musicais, como o funk, o rock, o samba (com Marcelo D2) e o maracatu (no movimento maguebeat, em Recife). Segundo o sociólogo Márcio José de Macedo no artigo Baladas Black e Rodas de Samba da Terra da Garoa, “no início do século 21 vê-se que tanto o samba como a música negra internacional tocadas nos bailes black se prestam a construção de uma identidade negra contemporânea entre jovens da cidade de São Paulo”.
Ainda de acordo ele, os citados Bailes Black podem ter surgido com pessoas que não tinham condições para frequentar os eventos que chamavam mais público na época. Foi preciso criar um espaço
que abraçasse os que não podiam ocupar certos ambientes. Desde a criação do hip hop e a ascensão do rap, o estilo se adaptou a culturas diferentes fora dos Estados Unidos, ganhando novas referências e, consequentemente, subgêneros. Isso abriu possibilidades, deu voz para mais artistas e possibilitou colaborações, o que impactou diretamente na chegada do rap às paradas de sucesso. Os estilos mais ouvidos são o boom bap e o trap, porém, o grime e o drill também têm feito a cabeça dos mais jovens.
O boom bap é a batida mais clássica do rap, com a sua origem como uma consequência da falta de equipamentos que os DJs tinham no começo do hip hop, o que acabou criando um estilo mais seco. Junto com ele, veio também os scratches, riscos que o DJ faz no disco de vinil propositalmente. Já o trap é uma música mais eletrônica, com letras que costumam abordar ostentação, drogas e sexo, e batidas que podem ser facilmente criadas em aplicativos para computadores e até em celulares. Agora, o drill tem uma pegada mais sombria, com uma estética violenta e explícita nas músicas, cujos artistas geralmente cobrem o rosto e exibem muitas armas nos clipes. Com um estilo muito mais eletrônico e acelerado que o trap, o grime geralmente tem músicas com 140 BPM e os MCs usam 8 versos de compasso, diferentemente dos 16 tradicionais do rap.
Termo que mensura uma velocidade rítmica e, na música, significa batidas por minuto. Quando falamos que uma música está em 60 BPM, significa que ela está sendo executada em 60 batidas por minuto, ou seja, 1 batida por segundo.
Gêneros musicais como o hip hop e o funk possibilitam que a sociedade e os movimentos sociais sejam vistos sob uma nova ótica, principalmente por se tratarem de expressões artísticas que partiram de grupos socialmente marginalizados. “Problematizaram-se, através desses estudos, as relações entre culturas minoritárias e poder no Brasil, hoje, analisando a atuação de instituições que exercem o poder através de ‘dispositivos de controle’ e de produção de um ‘consenso’; e práticas sociais que apontam para a diferença e que, em certo sentido, reorganizam ou, pelo menos, sugerem uma nova configuração mais fragmentária do espaço social”, escreve o historiador Micael Herschmann, no livro O Funk e o Hip-Hop invadem a cena.
Apesar de todas essas vertentes, o rap foi um espaço bastante masculino e, reconhecido como muito machista, que muitas vezes limitou a participação das mulheres a colaborações com os homens em destaque. Black power, tranças, maquiagem e rimas empoderadas são algumas das características das mulheres que retratam seus sentimentos e lutas por meio do rap. Enaltecer a identidade feminina nem sempre foi possível, mas, por muitos anos, Negra Li se manteve como a grande representante desse grupo na cena. A sua trajetória fez com que as mulheres tivessem
O compasso é uma forma de dividir os sons de uma composição musical em grupos com base nas batidas e pausas.
mais espaço e se juntassem ao caminho traçado por ela. Flora Matos, Karol Conká, Stefanie MC, Tati Botelho, Clara Lima e as irmãs Tasha e Tracie são alguns dos nomes que têm mostrado que o rap não é um lugar de fala apenas dos homens, trazendo em seus trabalhos o ativismo e o empoderamento.
No livro Uma história do feminismo no Brasil, a historiadora Céli Regina Jardim Pinto expõe que a participação das mulheres em movimento sociais rompe o confinamento delas em esferas privadas e contesta a invisibilidade no espaço público. No mesmo sentido, a psicóloga Maria Natália Matias Rodrigues mostra como o rap contribui para as vivências femininas em sua dissertação chamada Jovens Mulheres Rappers: Reflexões sobre gênero e geração no Movimento Hip Hop. Ela pontua: “[...] As letras de rap são uma das formas das jovens mulheres falarem de suas experiências, suas situações de vida e assim, assumirem autoria sobre suas vozes e vidas. [...] Além disso, o rap produzido por mulheres tem se destacado com o compromisso político de denúncia e combate, em especial, às desigualdades de gênero”.
Porém, mesmo com toda essa movimentação, dos cinco destaques de 2022 anunciados no perfil do Instagram do Sons da Rua, festival que conta com uma programação que seleciona o que há de melhor no rap nacional, apenas uma atração é feminina. Abrindo o Spotify na playlist Gigantes do Rap Nacional, é preciso deslizar até a 36ª música da lista de 65 para encontrar a primeira interpretada apenas por uma cantora, sem que seja em participações de músicas de artistas do gênero masculino. O corre para ter seu espaço em um universo lotado de homens, em cima dos palcos e nos bastidores, parece ser inevitável, passando de geração em geração.

“Meu nome artístico veio da música Mulher Elétrica, dos Racionais. Eu gosto muito dessa música e acredito que foi uma retratação pelas letras machistas que eles tinham”, explica Karina Ramos de Jesus, acompanhando o balanço do trem em plena tarde de sábado. Seu vulgo, 3Kvolts, como ela mesma esclarece, tem como inspiração a canção do grupo formado em 1988 por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay. O “K”, além de simbolizar “mil”, coincidentemente também é a primeira letra do nome dela. No fim, o resultado foi um encaixe perfeito.
A camisa branca que ela veste tem um raio estático amarelo estampado. Quase é possível sentir a alta voltagem ao redor dela ao passo em que o trem range contra os trilhos e avança até Itapevi, em São Paulo. É perceptível o nervosismo que a cerca, mas nada é capaz de tirar o sorriso do rosto da MC.
*
A estação Jabaquara do metrô, Linha 1-Azul, é bem movimentada aos sábados. Lá é possível observar todos os espécimes que São Paulo abraça, desde aqueles que vão e voltam do trabalho, mesmo aos fins de semana, até os que se deslocam em grupo rumo ao rolê da vez. Beira as três da tarde quando Karina chega, vinda de Diadema. Ela veste um short rosa choque, camisa branca com um raio amarelo estampado, tênis brancos, pochete e cabelos trançados. O sorriso no rosto é animado.
Ela fica próxima às portas do vagão de metrô ao embarcar e se equilibra facilmente. É o começo de uma longa viagem rumo a Itapevi, município da microrregião de Osasco, em São Paulo. Lá, naquele sábado, 24 de setembro, havia um evento do Projeto Grafitar, idealizado pela grafiteira Aline Ribeiro com o objetivo de reunir os quatro elementos da cena – rap, DJ, breakdance e grafite – e dar espaço para que apenas mulheres se apresentassem.
Apesar da distância, Karina não recusou o convite. Para uma artista nova na cena, toda oportunidade de levar seu trabalho para mais pessoas é uma chance de ouro. “Eu tenho 26 anos hoje e comecei a escrever e cantar há um ano”, explica ela. “Vontade eu tenho desde pequenininha, quando vi uma mina cantando pela primeira vez, a Kmila CDD. Quando assisti a ela no palco, eu já sabia que queria fazer isso também. Eu achava que não era capaz, que não era para mim e que era algo que você precisa nascer sabendo”. Kamila Barbosa, mais conhecida como Kmila CDD, é uma rapper brasileira que atua junto com o irmão, MV Bill. O primeiro EP solo dela, chamado Preta Cabulosa e lançado em 2017, tem como objetivo mandar um recado para os homens e pessoas brancas, sublinhando as dificuldades e a importância de ter mulheres pretas na cena.
EP O extended play, no português chamado de formato estendido, é uma gravação mais longa do que um single, mas que ainda assim contém menos faixas do que um álbum. Esse formato possui uma flexibilidade que pode ser usada a favor do artista, com cerca de 4 a 5 músicas, o que o torna menos caro e demorado de ser produzido e lançado.
Mesmo que seja uma amante assídua do hip hop e, mais especificamente, do rap desde pequena, Karina começou a escrever e cantar durante o isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, quando teve uma espécie de epifania. “A pandemia foi uma oportunidade de perceber que a música realmente me faz bem. Acho que faz bem para todo mundo, mas para mim tinha uma importância maior do que tudo que eu já fiz – e olha que já tive muitos empregos”, ela ri e abre espaço para quem desembarca na estação seguinte. “Cantar é o que me completa e me deixa mais satisfeita. Quando saio da minha casa para subir ao palco, não preciso de mais nada. Comecei agora e ainda não estou exatamente como quero, preciso mudar e melhorar muitas coisas – sou bem crítica comigo mesma. Mas o simples fato de estar cantando já me basta”.
Quando participa de um show ou evento, 3Kvolts tem alguns rituais que ajudam a controlar o nervosismo. “Eu respiro fundo”, diz, simplesmente, e depois ri como se fosse uma resposta boba. “Tenho muita ansiedade, mas uns tempos atrás estava vagando pela internet e conheci os mantras,
entre eles o Ho’oponopono”. Esse mantra havaiano de arrependimento, perdão e transmutação foi desenvolvido por Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeona (1913–1992) e se baseia na ideia de que tudo na vida é responsabilidade de cada um, ou seja, só é possível reconhecer o que já se conhece. O termo Ho’oponopono significa “reparar” ou “corrigir um erro”. Karina consegue se lembrar dele mais facilmente, então é ao que ela recorre nos momentos de nervosismo. Apesar das precauções, é firme quando diz que a experiência no palco é incrível o suficiente para tirar de foco qualquer tipo de hesitação.
“No palco é tudo muito automático, na verdade. Você intuitivamente sabe o que fazer, e por mais que haja preparo, porque eu sempre ensaio em casa, no palco você não sabe quem vai estar te vendo e eles não sabem o que está por vir. Normalmente, quando estou em um lugar a que nunca fui eu fico mais ansiosa, mas dou aquela respirada e vou na fé”, ela se apoia no corrimão quando o vagão para.
Apesar de ter poucas músicas autorais – três até o momento –, a rapper inclui a imagem, a vivência e a noção de pertencimento da mulher em cada uma das letras. “Meu tema preferido é o empoderamento feminino”, explica. “Gosto de falar que a mulher tem que ser independente e colocar machista no lugar dele. Fazer a mulher ter autoestima, saber que ela pode ser o que ela quiser”. O que os versos gritam traduz muito bem a realidade enfrentada por Karina e tantas outras mulheres da cena.
De acordo com a pesquisa Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2013, a mulher dedica o dobro de tempo a afazeres domésticos e cuidados com os filhos e outros membros da família em comparação aos homens. No final, as mulheres enfrentam 21,4 horas semanais
contra 11 horas por semana encaradas pelos homens. Karina sente o peso dessa desproporção, especialmente por ser mãe solteira.
“Falando por mim, tenho muitos compromissos durante o dia. Sou mãe solteira, então é muita coisa para cuidar: filha, casa e música. Eu ainda não posso viver do rap, então preciso trabalhar e fazer ‘os corre’ para ganhar o dinheiro que vou investir na minha casa e na minha arte”, diz. Para ela, esse cenário, que é compartilhado por tantas outras mulheres, impede que muitas delas se foquem na própria carreira para conseguirem evoluir mais rápido.
“Muitas minas que eu vejo têm essa mesma dificuldade. Infelizmente, o espaço é fechado na cena porque existem muitas preocupações e não sobra tempo para comparecer nos eventos. Eu tenho que fazer o corre para encontrar alguém para olhar minha filha, mas às vezes não consigo e isso atrapalhou muito no início. A minha força está nela e é tudo por ela também. Quando minha carreira virar eu vou poder dar uma vida muito melhor para a minha filha”, reflete, sonhadora. Karina confidencia que sua filha é sua fã número um. Além de conhecer a letra das músicas, a menina apoia o trabalho da mãe e demonstra interesse em ajudá-la, seja nos ensaios em casa ou com maquiagem e figurino. Para ela, ter esse respaldo é muito importante, mas a rapper se solidariza com outras mulheres que não têm esse mesmo apoio ou que enfrentam outros obstáculos.
“Eu fico triste vendo isso acontecer com outras mulheres, porque sei como é difícil. Mesmo com as minhas complicações, eu tô conseguindo avançar devagarinho, mas por outro lado a responsabilidade aumenta, ainda mais por estar representando as meninas que, infelizmente, não estão ali ainda. Espero que, mais para frente, pelo menos uma grande parte delas consiga mais oportunidades”, ela sorri, mas carrega
nos olhos o peso dessa desproporção, que por sua vez pode ser observada dentro dos próprios eventos de hip hop. “O meu pensamento é sempre: ‘Poderia ter mais mulheres’”, ela se esquiva do fluxo de passageiros que entra e sai do vagão. O burburinho das conversas e os olhares curiosos que recebe por estar em pé compartilhando as mazelas da cena não parecem incomodá-la. “Tem muita mina que canta e que poderia estar ali, mas não está graças a diversos problemas que eu mesma conheço de perto. Não são todas que conseguem comparecer aos eventos, algumas vezes sequer são chamadas”, expõe.
“Muitas têm o sonho e o propósito de ocupar a cena, mas por conta das dificuldades não conseguem divulgar o próprio trabalho. Sou minha própria equipe. E quando você não consegue uma boa divulgação, ninguém te vê e dificilmente vão te chamar para alguma coisa”. Levando em consideração que a ausência na cena é resultado de um machismo que vem desde a rotina que essas mulheres levam, Karina avalia que o cenário está mudando como um todo, mas não está nem perto de ser o ideal.
“Comparando o agora com o passado, está mais avançado, mas precisamos de mais. Acredito que devem existir mais oportunidades para as mulheres e mais apoio para conseguirmos ocupar espaços para nos inserir em cada lugarzinho da cena que está se abrindo agora. Acho que dá para tumultuar mais ainda, mas não vai ser fácil”, pondera. “Foram necessários vários anos para o movimento feminista ter mais atenção e reconhecimento para que as mulheres começassem a reclamar e questionar o porquê de as coisas serem assim. Foi uma mudança bem gradual, se a gente parar para pensar. Muita coisa ainda precisa evoluir”.


Inferno é para branco e para preto
Na cadeia tem branco e preto Na favela tem branco e preto O rap é para branco e para preto E todo preço já foi pago Eu não preciso dar um jeito
Passarin – Nabrisa
Os versos repercutiram na internet, e Don L comparou o número de seguidores de Nabrisa no Instagram – 429 mil na época – com a quantidade de pessoas acompanhando artistas pretos, como Alt Niss, então com apenas 9 mil, Drik Barbosa, com 84 mil, e Lay, com 27 mil. “Se isso não é privilégio branco, eu não sei o que é”, escreveu Don L no Twitter.
O episódio mais recente acerca do embranquecimento da cena aconteceu em setembro de 2022. A cantora Flora Matos, que não se considera uma pessoa branca, insinuou boicote por parte por parte da produtora Pineapple Storm sobre o Poesia Acústica, projeto que inclui vários artistas do rap e do trap nacional. Por meio do Twitter, Flora disse que foi convidada para participar da 12º edição, mas que precisou cancelar na época por conta de um compromisso e combinou de estar presente no produto mais recente. No entanto, no lugar dela foi chamada a cantora pop Luísa Sonza, que dividiu elenco com Xamã, L7nnon, MC Cabelinho e outros nomes do ramo.
“Eu cancelei minha parte no Poesia 12, mas tinha ficado combinado de eu estar no 13. Por algum motivo, a Pineapple não me informou que eu não estaria mais no 13, foi quando eu soube que a Luísa estaria. Mandei mensagem, mas sem resposta. Me senti mal? Sim, obrigada”, relatou a rapper por meio das redes sociais.
Flora Matos também alfinetou Luísa Sonza, que enfrenta um processo por racismo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma ação por danos morais foi aberta em 2019 contra a cantora em uma pousada em Fernando de Noronha, onde a vítima, chamada Isabel, foi passar férias. Enquanto assistia a um show da cantora durante um festival gastronômico na pousada, Luísa ordenou que ela lhe servisse uma água, confundindo-a com uma funcionária do estabelecimento.
O processo foi divulgado em 2020, mas na época Sonza negou as acusações. “Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso”, escreveu no Twitter.
Já em outubro deste ano, após o caso ser trazido à tona novamente, a cantora se manifestou por meio da mesma rede. “A maneira com
que me dirigi a sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural”, declarou. Antes desse posicionamento oficial, ela já tinha divulgado que aceitaria o pedido no processo de Isabel e que entraria em contato com a vítima.
Flora Matos comentou a polêmica após acusar o boicote. Ela repostou o tuíte de um seguidor que dizia: “Luísa Sonza mesmo se pronunciando deu uma aula de como é fácil ser uma pessoa racista no Brasil. 1 - citou racismo estrutural; 2 - processo de aprendizagem; 3 - se calou para absorver; 4 - não pediu desculpa à vítima. Público conquistado com sucesso”. A cantora ainda sugeriu que estava sendo atacada pelos fãs de Sonza. “Era pra eu ficar com medo de me expor e me calar completamente diante de situações como essas? Só porque todo mundo tem medo do fã clube da menina rica?”, escreveu. O fato de uma cantora branca que não faz parte do movimento hip hop e está sob acusação de racismo tomar o lugar de uma rapper preta é o fio condutor do debate.
Tendo em vista o privilégio de pessoas brancas em uma sociedade racista, 3Kvolts diz que embora não tenha uma pele retinta, sua concepção acerca da própria etnia definitivamente não se enquadra como branca. “Diretamente, ainda não recebi nenhum comentário sobre isso, mas às vezes sinto olhares. Eu não me enxergo totalmente branca, mas tenho uma pele muito mais clara, sim. Eu sei que essa declaração não é a mais adequada, mas me defino como parda”, explica. O termo pardo é usado pelo IBGE para configurar um dos grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, junto a brancos, indígenas, pretos e amarelos. No sentido concreto da palavra, ela é usada para representar pessoas com variadas descendências étnicas. O manual do IBGE define o significado atribuído ao termo como pessoas que possuem uma mistura de cores de pele, como descendentes de brancos e negros ou de brancos e indígenas, por exemplo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, 46,8% dos brasileiros se declararam como pardos.
O manual do IBGE deixa claro que durante o Censo Demográfico o entrevistador não deve pressupor nem a classificação parda nem a negra. “Explique que o IBGE usa apenas as 5 (cinco) categorias mencionadas, desde o Censo 1991, e peça que o informante escolha uma das opções. Jamais assuma que é preta ou parda”, diz o manual.
Conforme explica a advogada e pesquisadora Alessandra Devulsky no livro Colorismo, “o grupo racial chamado de modo geral como negros no Brasil, portanto, inclui também os pardos. Pardos esses que são associados a algum grau de mestiçagem racial, enquanto, por outro lado, não são identificados como brancos por não terem ascendência europeia visível em algum traço físico peculiar”. Devulsky acrescenta que o colorismo e o racismo caminham de modo paralelo, pois “tem como causa a maneira pela qual compreendemos a condição negra, inferiorizada e subjugada ao branco; mas também tem como solução a compreensão dessa mesma condição negra, desde que liberta de sua grade racista”.
“Eu já estive presente em ambientes de pessoas brancas, e é uma realidade totalmente diferente da minha. Até aquele momento eu falava ‘não, tranquilo, sou branca’. Mas quando cheguei e vi que além de um tom de pele mais escuro, minha vivência é completamente oposta à deles, percebi que não era bem assim. Minha família e minha raiz são diferentes”, diz Karina. “Infelizmente muitas pessoas ainda não conheceram o verdadeiro branco e acham que eu estou no mesmo lugar que eles. Definitivamente, estou bem longe disso. Aliás, em alguns aspectos prefiro estar distante, como conscientização social, por exemplo. Já no sentido financeiro, espero atingir o mesmo lugar que eles um dia”, ela ri com genuíno bom humor.
Vinda da periferia de Diadema, Karina é fortemente influenciada pelas próprias experiências e pela realidade que absorve ao seu redor. Balançando com o trem, ela discorre sobre os principais pontos que marcam presença em suas músicas na tentativa de levar sua leitura da realidade para cada vez mais longe. “Eu vejo as minas dentro de relacionamentos nos quais elas não têm voz ainda. São passivas em certas situações. Gosto de falar como algumas ainda não têm a liberdade de simplesmente
dizer ‘eu não quero isso’. O que mais ouço quando alguém faz um comentário preconceituoso é que ‘aquela mina é muito para frente’, sendo que ela só fez o queria fazer”, explica. Para ela, ainda falta união entre as próprias mulheres, pois algumas reproduzem o mesmo machismo que sofrem e alimentam, mesmo que inconscientemente, a engrenagem que move o patriarcado.
“Às vezes o simples fato de a mulher ser solteira já rende olhares da sociedade. Eu tento espalhar o quanto é importante não se prender a conceitos machistas, principalmente no caso de mulheres que criticam outras mulheres. O que eu vejo no meu dia a dia na periferia é o preconceito que vem com a ideia de família tradicional”, pontua. A rapper comenta que os ideais conservadores, além de não se provarem na realidade, mantém as pessoas presas a um sistema que as exclui, especialmente quando se fala das mulheres.
Nos sete primeiros meses de 2022, os cartórios de Registro Civil do país reconheceram mais de 100 mil crianças apenas com o nome da mãe. Essa quantidade é maior do que o total de 6% de recém-nascidos registrados em 2021 que não recebeu o nome do pai – mais 96 mil crianças. Os números estão no Portal da Transparência do Registro Civil, na página Pais Ausentes, que integra a plataforma nacional administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil)
“Infelizmente o pessoal ainda vive na ignorância total. Na quebrada, tem uns caras que são realmente xucros e que não querem nem saber: a mulher é dele, como uma propriedade, e ele olha paras as novinhas na rua, pega elas e enquanto isso a mulher tem que abaixar a cabeça”, lamenta Karina.
O desembarque na estação de trem de Itapevi não conclui o trajeto até o destino final. Um Uber leva Karina ao Inside Out Home Gallery, onde o evento foi realizado. O espaço consiste em uma casa de dois andares com corredores estreitos, um pequeno pátio atrás e paredes internas cobertas com as artes das integrantes do Projeto Grafitar –a maioria delas com narrativas femininas.
Karina é recebida com animação e se movimenta rapidamente para cumprimentar a todos. A apresentação dela, prevista para as cinco da tarde, se aproxima ao passo em que o sol do lado de fora deita para dormir. O palco, apesar de improvisado, abriga um bom equipamento de som e duas grandes caixas por onde a voz de Karina se propaga quando ela pega o microfone. O público, composto majoritariamente por mulheres, se espreme diante dela, todas ansiosas e com olhos receptivos. Diferentemente da apresentação durante o 23º aniversário da Casa do Hip Hop de Diadema, essa plateia é animada. 3Kvolts canta suas três músicas, uma seguida da outra, ao som de gritos e palmas toda vez que manda um recado direto para os homens que insistem em achar que podem se colocar em um pedestal.
“Sarcástica? Irônica? Se desceu para o play, vai brincar”, ela canta. “Se não aguentar, vai arregar. Se roubar minha brisa não vai prestar”, e as minas presentes entoam um coral de satisfação. É um grito de liberdade em comum. “Vê se me esquece, porque aqui você não é chefe”, dispara em outra música. Após 30 minutos de apresentação, os aplausos fazem as paredes tremerem. Itapevi a enaltece. Depois de 3Kvolts, outras mulheres se apresentaram. Ela tira fotos e caminha com uma lata de energético na mão e um sorriso verdadeiro no rosto. Nos olhos dela, há a paz de quem se sente em casa.




“Tem muita ofensa para a mulher e isso é uma coisa que é naturalizada na nossa sociedade e no rap muito ainda. Nas batalhas de MCs, 90% do papo é: ou o cara chama o outro de mulher, ou xinga a mãe do cara, ou xinga a irmã do cara, ou a mina do cara. E aí, está chato isso! Vocês precisam melhorar. (...) Alguns fãs vieram criticar que eles só estavam falando de minas específicas, mas meu, tenta se colocar no lugar do outro: se o tempo inteiro você cresce, na sua escola, no seu trampo, no rolê, na batalha, no rolê que você tanto ama, que é o rap e o hip hop, o tempo inteiro as pessoas estão te xingando por você nascer mulher, chapa. Não dá. (...) Quantas pessoas mandaram eu cozinhar, lavar uma louça, falaram que não estou transando... Sério que em 2016 é isso que vocês têm de argumento para usar quando não gostam de alguma coisa?”.
Ela relembra essa época com orgulho. “Eu acho que foi muito importante, mas o debate não se deu somente pela música. Já existia um movimento entre nós mulheres de ter essa visão sobre a nossa cultura e sobre o que a música reproduz, ensina e perpetua com relação à violência contra a mulher. Muitas coisas mudaram, sim. Aliás, dessa música surgiram várias outras clássicas, como Efeito Borboleta. A partir dali, vieram mulheres com letras muito contundentes, então foi uma safra muito importante naquele período”.
Ao longo do texto Eu sou MC: Participação coletiva e plural de mulheres em cenas musicais rap, a jornalista Dulce Mazer, a mestra em comunicação Gabriela Gelain e a socióloga Paula Guerra defendem que “além dos aspectos políticos e da prática da resistência, marca história do hiphop, o consumo e a produção do rap perpassam os usos, as reflexões significantes da apropriação e se convertem em categorias para os sujeitos comunicantes” neste caso as mulheres. Sob essa perspectiva, as autoras chamam atenção para o fato de que o rap é enriquecido pelas narrativas femininas sempre que uma mulher, por meio dele, manifesta suas percepções, suas indignações e suas demandas.
Para Lívia, naquele momento, as plataformas digitais tinham outra dinâmica, possibilitando criatividade, diversidade e visibilidade de posicionamentos e discursos como esse, lógica que não se mantém no mainstream, definido por Jorge Cardoso Filho e Jeder Janotti Júnior no artigo A música popular massiva, o mainstream e o underground: trajetórias
e caminhos da música na cultura midiática como o sistema de produção e circulação de grandes companhias musicais. “Na minha visão, o discurso ficou manso. De lá para cá, amorteceu. Aconteceu um ‘boom’ e, de repente, ficou fácil de novo reproduzir preconceito e discriminação e não enfrentar nenhum combate. Vira e mexe, eu vejo alguma mulher falar alguma coisa, mas eu percebo um problema de geração, porque não há referência nem fundamento nas mulheres do passado – e por ‘passado’, eu me incluo. Acho isso lamentável. Isso faz perpetuar um apagamento por meio da falta de referenciação. Isso é raso. É ‘fofo’”, comenta Lívia.
Ainda fazendo um paralelo com 2016, acredita que hoje a letra não teria o mesmo impacto: “Fico pensando que, atualmente, as pessoas iam tratar como ‘mi-mi-mi’. Se eu abordasse isso, ia ser cancelada. Acho que estávamos mais em um momento de olhar para essas questões com seriedade. Não quero me dar muita importância, mas quando as gatas viram o que aconteceu comigo, ficaram em choque. Agora todo mundo joga com o regulamento embaixo do braço”.
Falando em cancelamento, Lívia Cruz não escapou desse fenômeno do ambiente virtual. Em 2018, publicou um vídeo com a rapper Bárbara Sweet, fazendo comentários sobre o corpo e o comportamento de vários outros cantores da indústria do hip hop como uma forma de inverter a lógica de gênero à qual mulheres são constantemente submetidas. O objetivo desse quadro do canal do YouTube de Lívia não era falar sobre o trabalho artístico dos homens, e sim sobre a aparência deles, o que acontece muito nos comentários dos clipes de artistas mulheres, com abordagens frequentes sobre a roupa utilizada, peso, tamanho das silhuetas etc. Mas o conteúdo acabou não pegando bem e logo se espalhou
na internet, com um levantamento sobre a questão do racismo no feminismo.
“Ele é aquele cara que você vai encontrar saindo do camburão e você olha pra cara dele e não sabe se entrega o telefone ou se tira a calcinha. É uma dúvida: meu Deus do céu, será que sento na cara dele, será que passo minha carteira? Eu não sei o que faço. Nossa Senhora, ele vai me roubar, ele vai me comer? A gente não sabe. Essa dúvida é parte da atração que ele carrega com ele. Você olha pra cara dele, ele parece com aquele cara que tá lá na biqueira com fuzil na mão e isso é sexy”, disse Bárbara Sweet se referindo ao DK, do grupo ADL. Lorde, outro integrante do grupo, também recebeu comentários de Bárbara a partir da ideia “carteira ou calcinha”, com a frase final “Essa é a dúvida que me acomete com pessoas que se encaixam nesse padrãozinho específico”. Depois, Lívia comentou que “esse é um pensamento coletivo”, explicando que já ouviu de outras pessoas a mesma dúvida.
Essas falas soaram como uma ofensa à toda comunidade negra, independentemente de como se autodeclaram os cantores aos quais se referiam no vídeo. Reforçar que traços específicos de um tipo de fenótipo estão ligados à criminalidade ajuda na manutenção de uma cultura de racismo que paira sobre mulheres e homens negros. O vídeo foi apagado e Lívia Cruz se pronunciou em seu perfil no Facebook, pedindo desculpas e admitindo que é ineficiente tentar combater o machismo usando as mesmas armas opressoras que são utilizadas contra as mulheres, e isso nos faz cair no tema da interseccionalidade. De acordo com Carla Akotirene na coleção de livros Feminismos Plurais, a interseccionalidade permite que o feminismo considere identidades impostas a preconceitos de gênero, de classe e raça, ou seja, a partir dela, é possível compreender
melhor as desigualdades e a sobreposição de opressões existentes na sociedade, uma vez que muitas pessoas, por pertencerem a mais de uma dessas categorias sociais, sofrem diferentes formas de discriminações.
Lívia reconhece seu erro e que não soube lidar com o episódio na época, pois não imaginava a dimensão que aquilo ia ter. Ela preferiu sair das redes sociais para não ser diretamente afetada pelo hate. “Eu precisei cuidar da minha saúde mental, porque as pessoas me ameaçaram de morte, ameaçaram a minha filha. Eu escutei muito que o que aconteceu comigo foram “cinco minutos de raiva”, mas eu estava trabalhando. Tinha três meses de shows marcados pela frente, com uma filha para criar. E tudo acabou de uma hora para outra. Eu fui trampando meio no piloto automático, porque eu não podia passar fome. E aí, quando eu lancei o meu disco, foi a primeira vez que caiu a ficha real oficial de que o prejuízo tinha sido grande. Porque não aconteceu nada com ele, não foi para lugar nenhum, ninguém ouviu, só a minha mini bolha. E aí eu fui batalhando, fazendo show do meu bolso, investindo, produzindo. Não sabia que ia durar tanto tempo e que iria ter um impacto tão grande na minha vida”.
“Muita gente me cobrou, que eu deveria ter respondido, batido de frente e outras coisas, mas o racismo é real, assim como o machismo abordado no vídeo. Eu, como mulher branca há mais de 20 anos no hip hop, não me senti no lugar de falar o que é e o que não é racismo. O debate tem que acontecer. Só que, de fato, como ser humano, tive uma punição muito desproporcional. Eu não estou salva de cometer erros. Foi um fardo muito pesado para mim”. Por mais que Lívia não tenha feito os comentários diretamente, muita gente criticou sua postura passiva quanto à atitude da Barbara, ainda mais pelo fato de as duas serem integrantes do movimento
hip hop e apontarem características de pessoas que têm esse gênero, ainda muito marginalizado pela sociedade. “Naquele momento eu estava em ascensão, estava com bastante visibilidade, então foi o meu nome que explodiu, sendo que o comentário não foi meu. Mas é minha responsa pelo vídeo ser conteúdo do meu canal, então eu também me responsabilizo”.
A cultura do cancelamento foi eleita como termo do ano em 2019 pelo Macquarie Dictionary, famoso dicionário australiano que analisa as expressões em alta relacionadas ao comportamento humano. Em livre tradução para o português, o conceito representa:
“Atitudes dentro de uma comunidade que exigem ou provocam boicote a empresas, artistas, marcas, eventos, personalidades famosas ou não, geralmente em resposta a uma acusação de uma ação ou comentário socialmente inaceitável”
Adaptação da descrição do Macquarie Dictionary – 2019
Os discursos de cancelamento acontecem para muita gente, mas os efeitos desse processo não são os mesmos para todo mundo. O “tribunal” da internet julga as pessoas de formas diferentes. O que pode ser observado nos casos de Arthur Aguiar e Luísa Sonza. De um lado, um ator com mais de quinze traições reveladas contra a
sua antiga esposa e que virou um dos favoritos na edição 22 do programa Big Brother Brasil , chegando até a vencer o reality show. De outro, uma cantora cobrada até hoje por uma traição que foi desmentida pelo próprio ex-marido.
Arthur tinha sido cancelado antes de entrar no programa, após a sua exesposa Maíra Cardi expor a quantidade de traições que havia descoberto. Mas, com o passar dos dias no confinamento, ele começou a limpar a sua imagem aqui fora devido ao jeito calmo, o envolvimento em algumas discussões importantes no jogo e também graças à Maíra, que fala sobre emagrecimento nas redes sociais e criticou o Arthur por comer coisas como pão, lasanha e jujuba dentro do programa. Com isso, o cancelamento do Arthur caiu no esquecimento, cenário que não aconteceu com Luísa. Passados quase dois anos da sua separação com o humorista Whindersson Nunes, ela continua sendo alvo de ataques por ter começado a namorar com o cantor Vitão logo após esse término. Whindersson chegou a negar que foi traído, afirmando, inclusive, que a decisão de terminar partiu dele, mas isso não adiantou muito. O linchamento virtual dura até hoje, o que resultou no fim do relacionamento entre ela e Vitão, que constantemente também precisava lidar com os haters nas redes sociais.
O mérito aqui não é discutir se trair é certo ou errado, mas sim o porquê de mulheres serem as maiores vítimas do cancelamento e do ódio na internet, enquanto os homens, muitas vezes,
receberem compreensão. Ele ganhou um milhão e meio de reais, e ela, medo, crises de pânico e ansiedade.
Outro exemplo da seletividade da cultura do cancelamento é o caso da rapper Karol Conká. Ela foi eliminada do BBB 21 com 99,17% de rejeição, rendendo a maior audiência do programa nos últimos dez anos e perdendo não só milhões de seguidores, como também contratos publicitários e um programa que apresentava no canal GNT. Dentre as situações que mais geraram indignação nas redes sociais e motivaram o seu cancelamento, estavam: não permitir que Lucas Penteado se sentasse à mesa durante a sua presença no almoço; falar que o participante Arcrebiano se interessou pelo dinheiro dela; acordar Carla Diaz aos gritos e apontando o dedo no seu rosto; e tirar sarro do sotaque da participante Juliette, paraibana que venceu a edição.
Karol Conká recebeu críticas de fãs, celebridades e amigos rappers, além de inúmeras páginas de ódio à cantora terem sido criadas. Os ataques saíram do âmbito virtual quando o filho e a mãe da artista começaram a receber ameaças na vida real. Mas, na história do reality, Karol Conká não foi a primeira a adotar um comportamento que motivou o seu cancelamento. Por isso, de acordo com a bacharel em comunicação social Mariana Rufino e com a pós-doutora em comunicação política Rosemary Segurado, autoras do estudo de caso nomeado Cultura do cancelamento: uma análise de Karol
Conká no BBB 21, é preciso analisar por quem e para quem as situações foram feitas. Karol Conká se posiciona como aliada da luta das minorias e como defensora do feminismo e do antirracismo. Dessa forma, é esperado que ela tenha aderência a causas sociais, pressupondo um comportamento sem qualquer chance de erro nesse sentido. Ou seja, quando ela foi vista discriminando ou atacando um homem negro e uma mulher nordestina, esses foram os motivos suficientes para o público questionar a legitimidade do seu posicionamento e cancelá-la.
E o mesmo aconteceu com Lívia: ter alguém pertencente da cultura hip hop criticando outros nomes da mesma cultura foi inaceitável para o público. E após passar por essa experiência, ela tem outra opinião sobre o “julgamento” que acontece online. “Da mesma forma que muitas pessoas são destruídas pelo cancelamento, outras fazem carreira criando polêmicas para criar visibilidade e seguidores. Tem pessoas que só vivem em ‘perreco’. A gente está nessa era da internet, em que essas coisas acabam acontecendo, mas eu acho que precisamos humanizar as pessoas, saber que existe um ser humano atrás da tela, que tem uma vida, família e amigos, e precisa trabalhar para pagar as contas e comprar comida”.
- Salve, Lívia! Tudo bem? Então, te ligando pra combinar os detalhes do lançamento do Rotação 33 em São Paulo. Tá podendo falar?
- E aí, mano? Tranquilo e você? Meu, acho que não vou conseguir colar. Minha filha ainda tá com dois meses, muita coisa rolando... Não sei como vai ser.
- Tá doida? Não tem como você não ir. Você vai levar sua família, seu marido, sua mãe, quem quer que seja, para conseguir realizar o trabalho.
Essa foi uma conversa que aconteceu por telefone entre Lívia Cruz e KL Jay, DJ dos Racionais MC’s, sobre a mixtape Fita Mixada - Rotação 33, em um CD com 30 minutos de rimas dos maiores MCs e grupos do país e também novos nomes do rap da época, sem edição nas passagens entre as músicas, e em um DVD com os bastidores e depoimentos dos artistas participantes, gravados em 2006 e lançados em 2008.
Conjunto de faixas originais, versões ou instrumentais de outros artistas gravadas em cassete.
O convite para participar desse projeto veio de uma situação inusitada: Lívia encontrou KL Jay em um restaurante no Rio de Janeiro e entregou uma demo que tinha gravado. “Ele curtiu e entrou em contato comigo. Foi muito engraçado, porque na época era o início da internet e ele me contatou por e-mail, mas eu não usava direito. Cara, eu tinha 18 anos! Só usava o e-mail para fazer login nas coisas, ninguém me mandava mensagem para nada. Ele tentou contato comigo várias vezes – uns e-mails muito engraçados, já em caixa alta, gritando ‘me responde’. Essa produção me deu muito mais entendimento sobre o caminho do rap e de que eu realmente poderia viver disso e transformar em uma carreira, uma profissão”.
Gravação musical com a proposta de ser uma demonstração de um trabalho, podendo ser feita em estúdio ou não, para estudos musicais ou primeiras propostas de um álbum.
Até chegar nesse encontro quase que premeditado pelo destino, Lívia trilhou um caminho de altos e baixos. Nascida em Recife (PE), identificou-se com a cultura hip hop ainda adolescente, começando
a escrever e cantar rap entre os 13 e 14 anos, mas de forma descompromissada. Ela descreve essa relação como um daqueles amores que você acha que vai morrer se não conseguir ter. “Se formos pensar bem, 20 anos atrás, eu, sendo uma mulher nordestina, era realmente como viver uma paixão adolescente impossível. Não tinha um planejamento, um sonho de ter uma carreira. Era sobre fazer e estar perto das pessoas que fazem também. E aí depois eu fui entender que isso poderia ser uma profissão e que tinham alguns caminhos para isso. E eu fui buscando”, relembra.
Na tentativa de se estabelecer no rap, Lívia passou por alguns lugares até chegar em São Paulo, cidade em que vive atualmente. Esteve no Rio de Janeiro, onde teve contato com outras pessoas do movimento hip hop e conseguiu entender a parte prática de registrar uma música e da atuação em home studio Foi lá que conheceu o coletivo Brutal Crew, de Aori e Dj Babão, e gravou o seu primeiro som, Viúva Rainha, indicado em 2003 ao Prêmio Hutuz, o maior festival de hip hop com premiação da América Latina. Depois foi atrás de lançar o seu primeiro disco em Brasília (DF), mas como as gravações acabaram não saindo como ela imaginava, Lívia criou uma demo – material que seria entregue para KL Jay futuramente, sem nem mesmo ela imaginar essa possibilidade.
O projeto Rotação 33 abriu portas para Lívia Cruz, dando visibilidade e empoderamento nessa jornada em busca de uma carreira. “As pessoas começaram a me reconhecer, porque pensa: a mixtape foi gravada em DVD, e
isso, para a época, era high tech no rap Antes disso, nós conhecíamos a voz dos nossos ídolos, mas não o rosto deles. Então, eu fui ganhando cada vez mais direcionamento”. Mas, de uma hora para outra, Lívia recebeu uma notícia que mudaria um pouco a sua vida dali em diante: ela estava grávida. “Eu engravidei aos 20 anos e, nesse momento, tem uma coisa no imaginário das mulheres, e que também é reforçado pela sociedade, que faz a gente achar que acabou a nossa vida, a nossa carreira, que a gente não vai conseguir. Eu pensava muito nisso na época da gestação”.
Ao contrário do que imaginava, depois que Alice nasceu, a faixa Mel e Dendê, extraída do seu EP, ganhou uma versão remix na mixtape Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência, do grupo cearense Costa a Costa. Além disso, KL Jay lhe fez uma ligação para falar do lançamento do Rotação 33, dois episódios que foram muito marcantes para Lívia seguir carreira após a gravidez. “Logo após o nascimento da minha filha, aconteceram duas coisas que foram uma luz no fim do túnel. Um remix na mixtape do Costa a Costa, um grupo do Nordeste que foi e ainda é muito importante, estava na minha caixa de correio assim que cheguei da maternidade, e isso foi muito simbólico para mim, como se estivesse me mostrando que não acabou ainda, só estava começando. E quando rolou o lançamento da Rotação 33 em São Paulo e o KL Jay me ligou para me avisar da data e como ia ser. A atitude dele foi a segunda coisa que me mostrou que não era impossível, que dava para ajustar tudo”.
Em 2009, Lívia Cruz ganhou a categoria Melhores Demos Femininas da Década do Prêmio Hutz. No mesmo ano, participou do quadro Garagem do Faustão, no programa Domingão do Faustão, com a música A Cartomante, ficando entre as finalistas. “Como era o começo do YouTube, o Faustão fez um festival de talentos no programa dele, no qual ele mostrava alguns vídeos da plataforma. Era como se fossem artistas underground descobertos pelo YouTube e isso era uma novidade para a época. Eu mandei um vídeo também, despretensiosamente, e passou no programa em um domingo. É muito louco, porque na TV Globo você aparece 30 segundos e, de repente, as pessoas começam a conversar com você. Eu trabalhava de recepcionista, vestida em um terninho, e me diziam: ‘você estava no Faustão no domingo’. A TV naquela época ainda era uma potência enorme”.
Depois das passagens pelo Rio e pela capital do Brasil, Lívia se mudou para São Paulo por dois propósitos: o trabalho, que cada vez mais a trazia para a cidade, e um romance que fisgou seu coração. “Eu estava em turnê com o Rotação 33, e foi quando me apaixonei pelo segundo amor da minha vida. Ele morava em São Paulo, e a gente ficou nessa distância por um tempo. Fazia muito sentido, né? E não era só o amor, tinha o trabalho também. Eu vim viver esses amores e essas paixões e tô aqui desde então”.
E mesmo com a gravidez inesperada, fala com muito orgulho da filha: “Filho a gente não põe nessa conta, porque é outro tipo de amor. Na vida, minha maior
inspiração é minha filha. Ver um ser humano crescer e ficar tão inteligente e tão incrível me inspira muito a continuar crescendo, aprendendo e sendo o máximo de coisas que eu conseguir sonhar para poder ser exemplo para ela. Enfim, ela é minha maior inspiração”. E continua a sua declaração pela maior cidade da América Latina: “Nisso tudo, acabei por conhecer o terceiro amor da minha vida: São Paulo. Estamos nesse love até hoje. Só que São Paulo satura também, então eu me vejo em outros lugares, mas não por enquanto. Talvez role um relacionamento aberto mais para frente, mas no momento estou monogâmica com a região”, explica aos risos.
*
Visualizações no YouTube, Top 100 Spotify, agenda de shows... Apesar da trajetória de sucesso, a pausa de três anos nas produções devido à polêmica de 2018 ainda tem impactado nesses aspectos da carreira de Lívia. “Por mais democrática que a tecnologia seja e torne nosso trabalho acessível, somos atropeladas pelos mais de 10 mil lançamentos por dia. Então, às vezes as mulheres estão lançando coisas, mas nós não estamos vendo. E quando eu falo ‘elas’, estou me incluindo. Sempre que eu encontro alguém que acompanha meu trabalho, eu ouço ‘nossa, não desiste, lança mais músicas’, sendo que eu acabei de lançar, mas não chegou para as pessoas. É um lugar de invisibilidade muito grande que inclui diversos fatores”. Para ela, mesmo presente em grandes plataformas digitais, o hip hop nunca deixou de ser uma cultura marginalizada.
A ideia da manutenção do caráter revolucionário desta manifestação cultural, notada como arte por meio da denúncia de todas as mazelas a que eram submetidos, bem como por intermédio da valorização dessa população aparece na publicação A contracultura do movimento hip-hop no processo de valorização da cultura produzida na periferia, escrito pelo doutor em direitos e garantias fundamentais Lucas Kaiser Costa e pela doutora em direito Gilsilene Passon Picoretti Francischetto. O hip hop é visto como uma ferramenta que “com toda a sua influência negra e sua apropriação das lutas desenvolvidas, permite ao jovem empreendedor processos de resistência e de autovalorização, resgatando a sua cultura, historicamente vilipendiada, de forma que essa exclusão é absorvida não passivamente, mas como gatilho para a ação, na medida em que permite respostas aos problemas e contradições sociais, ressignificando o seu eu e o seu estar-no-mundo”.
“O hip hop ainda é uma contracultura. A gente ainda é uma cultura periférica, tudo isso ainda existe. Por mais que grandes artistas ocupem lugar no mainstream, atualmente, o hip hop enquanto cultura não mudou, existe muito preconceito. Não temos um espaço de mercado que seja sustentável, e para as mulheres isso pesa muito mais”, ressalta a rapper.
Acompanhamos um dia dela como artista para realizar a entrevista deste livro. O evento da vez era uma roda de conversa no Sesc Campo Limpo sobre os anos 2000 e as intersecções contemporâneas no hip hop. Passamos de Uber na casa dela e Lívia se acomodou no banco
de trás com um sorriso suave, perna cruzada e cabelos caindo sobre o ombro. A voz dela era tranquila, mas se tornava expressiva quando falava mais sério. De quando em quando, soltava um riso que fazia os olhos quase se fecharem. Na maior parte do tempo, assistia à paisagem de São Paulo pela janela do carro. A voz ficava mansa quando falava do próprio passado, como se estivesse perdida nas lembranças que revira e organiza em palavras embaralhadas, mas com uma dose de amor e nostalgia. Muito carinhosa quando se refere à cidade de pedra, ela se ajeita no banco conforme a conversa se encaminha para os pontos mais polêmicos. Sua postura é confortável e reage com calma, mas a voz torna-se encorpada e incisiva. Ajeita o cabelo de vez em quando, jogando-o sobre os ombros. Encara o celular estendido perto para gravar sua voz, e esbarra nele às vezes devido ao balanço do carro e à forma como gesticula enquanto explica algum ponto que considera importante. Seus olhos buscam curiosos o Sesc conforme o carro se aproxima do destino. Após agradecer o motorista, sair e apanhar a bagagem no porta-malas, ela vai para a calçada e acende um cigarro. Enquanto fuma, fala um pouco mais sobre o assunto conversado na viagem, mas com o gravador desligado.
Apesar das dificuldades, Lívia Cruz continua sendo referência e um dos maiores nomes femininos do cenário do rap brasileiro. Com uma caminhada extensa nas costas, acredita na força de tantas outras mulheres que fizeram e se fazem ouvir dentro do rap. “As
nossas referências são masculinas, principalmente no rap. Então, a gente quer aprovação dos homens, quer estar perto dos homens, quer se parecer com os homens. No início da minha carreira, eu tinha muito isso. Então, eu comecei a compreender o silenciamento, o apagamento, o fato de nunca poder estar no mesmo nível, de não ter o respeito. Enfim, vários processos de violência, que às vezes são até físicas, né? De você ser assediada, ou ser expulsa de um palco. Aí eu comecei a entrar em uma postura de exigir que esses homens que são donos dos espaços cedessem eles. E isso foi uma fase importante, porque eu exigi na minha postura e nas minhas letras. Mas aí depois eu entrei num entendimento de que eu nem quero esse espaço cedido, porque eu fiz tudo até aqui para construir o meu espaço. Eu não estou mais em uma fase desse debate, estou na fase de construir a minha autonomia. E quanto mais cedo as mulheres tiverem essa consciência, mais rápido a cena vai mudar. Agora para os caras entenderem, aí é com vocês. A nossa parte a gente tá fazendo”.
Em Ordem na Classe, uma das músicas mais conhecidas de Lívia, ela mostra como debater essa questão do gênero no hip hop é um desafio. Além disso, os versos também mostram o quão importante é para as mulheres se apoiarem e não se verem como inimigas, levantando a questão da sororidade.
Tão criativo, me mandou voltar pra pia Cala boca e respeita sua tia Questionaram a minha técnica Preocupados com meu flow e métrica Com meu 4x4 eu passei por cima Dessas linhas fraca e patética Bruxa dos mares, destruindo lares
Hypando os bares, dando mais pinta da Angélica Se eu vou de táxi ou uber, sempre vou com classe Vim por ordem na classe, Se esforçaram pra que eu me calasse
Duvidaram que eu disseminasse Maria Bonita, Anita, Dandara e Candace Fiz minha prece, tomei um passe
Eu vim do cangaço Então não dê mais um passo Pra dizer o que eu posso Eu vou lá e faço E quando eu faço, eles dizem que foi fácil Eu tô indócil com esse imbecil raso Pra vocês é um negócio, pra nóis é um legado Sentei o dedo na caneta e no mic eu cuspi aço Eles têm medo de buceta Esses gadin cabaço Eu já falei que nóis junta é um arregaço Pena que elas ainda não se ligaram
Ordem na Classe – Lívia Cruz



DJCriado em 1935, a sigla DJ une disc (disco e, neste caso, o vinil) e jockey (operador de uma máquina ou de um equipamento). O idealizador disso foi um apresentador de rádio norte-americano chamado Walter Winchell. Ele usou esse termo para se referir a Martin Block, o primeiro DJ a transmitir música popular tocando discos para os ouvintes. A partir dos anos 1950, os DJs de emissoras americanas de rádio começaram a organizar os chamados platter parties, que consistiam em festas feitas em lanchonetes nas quais eles assumiam o humanas e tocavam discos
Já em 1953, a gerente do clube, Régine Zylbenberg, formou a primeira disco do mundo, caracterizada por ter ela, uma DJ, no lugar de uma banda tocando ao vivo. A estrutura da festa consistia em uma cabine, dois toca-discos, gaiolas com dançarinos e ambientação desenvolvida para incentivar os frequentadores a dançar. Ela também pintou as lâmpadas com várias cores, criando a estética que conhecemos até hoje.
Em vista desses avanços temporais, é grande a importância dos DJs na cultura hip hop. O precursor foi o jamaicano Kool Herc, que por meio da sua aparelhagem ambulante criou a tradição das festas de rua, e, da mesma forma como encontramos diferentes estilos de rap, com os DJs não funciona muito diferente. Alguns se tornam excelentes remixadores, enquanto outros pendem para o lado da produção musical em si.
Aparelho eletrônico geralmente acionado por moedas que toca músicas do catálogo escolhidas pelo cliente e costuma ser encontrado em bares e lanchonetes.

A primeira discoteca foi criada em Paris, França, e por uma mulher! A Whisky A Go Go foi fundada em 1947 por Paul Pacini.
Segundo o jornalista Marcos Antônio Zibordi, dentro da cultura hip hop, os DJs são responsáveis pelo pilar de qualquer evento e das demais manifestações do movimento, como o próprio rap. No texto Paródia: base das bases musicais dos DJs de hip hop em São Paulo, Brasil, ele afirma que “nas festas, o trabalho dos DJs materializava um dos ‘elementos’ que gestaram a cultura hip hop. Quando poetas passam a rimar sobre essas bases musicais, começou a ser feita a música chamada ‘rap’, sigla em inglês para ‘ritmo e poesia’. A dupla de DJ e rapper significava o encontro da base sonora com as letras, a princípio mais
declamadas do que cantadas. Somadas a essas duas manifestações musicais, a proposta cultural aglutinante do hip hop inclui ainda os grafites nos muros e fachadas, além de diversos tipos de danças de rua, especialmente o ‘break’, no caso paulistano”.
Mas além de Zylbenberg, responsável pela discoteca, há outras mulheres, em especial brasileiras, que movimentam a cena, mesmo que não tenham tanto destaque quanto os homens. Uma delas é a Cássia Sabino, conhecida como Afreekassia, que iniciou a carreira em 2016 e tem uma pesquisa musical voltada para mulheres negras. O trabalho dela tem como foco exaltar a beleza dessas mulheres e resgatar a autoestima delas. Partindo disso, Cássia criou a plataforma Punanny Sound System, voltada totalmente para esta proposta.
Outro nome de destaque é a Afro Lai, que atua ao lado do rapper Ebony. Ela é mais forte e presente no Rio de Janeiro e também atua em clipes. Bárbara Brum, por sua vez, difere das duas primeiras porque começou a carreira no hip hop como b-girl, mas a sintonia com a música a levou a estudar o tema e se aprofundar na área de produção musical. Ela comanda um projeto chamado Festa da Brum, focado nas vertentes funk, trap, entre outras. A sede é em Florianópolis (SC).
De volta a São Paulo, Fabiana Pitanga, ou DJ Bia Sankofa, resgata o repertório de discotecagem e carrega nele a ancestralidade africana. Ela mistura
músicas afro-brasileiras e do rap com afrobeat, jazz, funk e tambores. Militante da esquerda política e coordenadora na Biblioteca Comunitária Solano Trindade, ela também criou oficinas voltadas para as mulheres, em prol de inseri-las no hip hop.
Direta ou indiretamente, o trabalho destas mulheres tem como fio condutor estabelecer redes de apoio e promover iniciativas que abracem as que precisam de acolhimento ou que desejam ter mais contato com a cultura hip hop, pois, assim como em outros elementos dessa cultura, a prática de DJ é, por essência, masculina. A antropóloga Mércia Ferreira de Lima, em A participação feminina no hip hop: jovens mulheres em culturas juvenis, destaca que “o exemplo do hip hop fica claro, por ser considerada uma cultura que nasceu na rua, e no senso comum a rua seria um lugar que predomina um público masculino, deixando a mulher excluída desse espaço, criando-se estigmas de que mulher que vive na rua não tem valor. Estar na rua seria totalmente agressivo para a imagem da mulher. O espaço adequado para a mulher seria na esfera doméstica, sendo assim ela fica reservada a maternidade, casamento, educação dos filhos e as atividades domésticas”.
O hip hop desembarcou no Brasil no início dos anos 1980, em São Paulo. Quase duas décadas depois, em 1999, Luana Hansen, da periferia de Pirituba, zona Oeste da capital paulista, começou sua história na cena. “Rap era a música da época, entendeu?”, relembra ela do outro lado da tela, confortavelmente acomodada em um sofá com headset na cabeça e uma jaqueta com as listras da bandeira LGBTQIAP+. “Era como o challenge que vemos no TikTok hoje. Na época, tocava rap na periferia. Tinham os Racionais, Facção Central... Muita coisa acontecia no movimento, e eu estava lá, na quebrada”, continua a narrar. Luana não hesita em falar sobre o passado, pois independentemente de como ele foi, a trouxe para onde está hoje. “Eu vendia droga na esquina. Não tinha perspectiva nenhuma sobre música. O rap entrou na minha vida porque os meus amigos ouviam. Os eventos eram feitos ali na região, e a galera com quem eu andava produzia eles, então acabamos juntos no meio de tudo isso. Foi assim que conheci o Sandrão, do RZO”. O grupo de rap brasileiro foi criado em 1992, formado por Sandrão, Heilão e DJ Cia. A sigla significa Rapaziada da zona Oeste, e algumas das músicas são justamente sobre Pirituba, onde Luana cresceu.
 FOTO: ARQUIVO PESSOAL
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
“Naquela época, eu não gostava de rap”, diz ela, o que soa irônico levando em consideração que atualmente é DJ, MC e produtora musical. “Eu achava o movimento muito misógino e machista. Eu sempre fui sapatão nesse meio. Sou lésbica desde que me entendo por gente, então quando entrei na cena esse foi o meu primeiro empecilho”, diz.
Não é difícil enxergar que, além do fato da grande maioria dos artistas de hip hop serem heterossexuais e cisgênero (que se identificam com o gênero imposto ao nascimento), as letras também carregam muito dessa normatividade. Porém, com o avanço das pautas feministas e LGBTQIAP+ ao longo dos anos, artistas de grande nome do meio pararam de reproduzir algumas músicas antigas que refletiam a cultura da cis-heteronormatividade, conforme discorre o ciente social Rafael Saraiva, no artigo Rap decolonial: minas e monas na cena do hip-hop nacional: “Não por acaso, bandas como Racionais MC’s, uma das bandas mais prestigiadas, tanto na cena nacional quanto internacional desde 1990, tiraram de seu repertório músicas de conteúdo machista sobre a objetificação e o domínio sobre a mulher, como a canção Estilo cachorro: ‘Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher, quanto mais você tem muito mais você quer’”.
Luana também explica que os padrões vigentes dentro da cultura hip hop na época a obrigaram a assumir hábitos e costumes que não lhe pertenciam para conseguir ser ouvida. Ela teve, pelo menos até certo ponto, sua identidade podada. “Lembro que a primeira grande coisa que precisei fazer foi me feminilizar para conseguir entrar na cena”, relembra. “Eu não podia ser eu mesma. Não podia vestir uma camiseta e cantar com ‘os manos’. Tinha que estar com a barriguinha de fora, calça big, toda de rosa e com blush na cara”. Ela ressalta ainda que na época as referências estrangeiras predominavam a indústria e ditavam o que era feito, ou seja, não existia ainda uma identidade nacional totalmente formada, em especial com relação à presença das mulheres neste ramo.
A ideia de feminilidade é carregada de uma série de estereótipos e elementos que tentam resumir o que significa ser mulher. A pedagoga Angela Maria Menezes de Almeida traça um breve percurso histórico desse conceito no artigo Feminilidade – caminho de subjetivação: “Acreditava-se que as distribuições sociais entre os diferentes sexos obedeciam às disposições naturais de cada um, que possuíam naturezas diferentes”. Por volta do século 18, surge um conjunto de ideias médicas, morais e filosóficas para delinear a diferença entre o masculino e o feminino.
“Assistíamos aos clipes da gringa, então tudo que a gente fazia era espelhado lá fora, onde as minas tinham um padrão super feminino que eu precisava seguir se quisesse conseguir um espaço. O primeiro grupo que eu participei se chamava A-FORÇA, e de mulher só tínhamos eu e mais uma. Os caras queriam que a gente sempre cantasse refrão, até que eu falei que não era aquilo que eu queria fazer, mano. O Sandrão falou para mim e para a Tina, que era uma mina que andava com a gente, que nós tínhamos que montar um grupo só de mulheres. Eu saí do A-FORÇA e migrei para outro grupo, o ATAL”.
Esta segunda formação, que nasceu em 2000, tinha como objetivo empoderar mulheres e meninas negras, como conta Luana. “Na minha época, não tinha cabelo black. Eu lembro que era o momento do alisamento. Enquanto a cultura se desenvolvia dentro de padrões, a gente tava indo na contramão querendo que ‘as minas’ primeiramente se sentissem bonitas, em especial as negras”.
A união feminina do ATAL rendeu frutos. Em 2005, o grupo ganhou o Prêmio Hutuz, no Rio de Janeiro. O evento é a principal premiação do movimento no Brasil e fez parte do Festival Hutuz, criado pela Central Única das Favelas (Cufa) – organização que surgiu graças às reuniões de jovens de várias comunidades da cidade. Além disso, elas chegaram a abrir shows de outros artistas do meio, como os Racionais MC’s. Contudo, com o passar do tempo, o caminho das integrantes se desviou para lados opostos, como Luana explica enquanto se ajeita no sofá, à vontade à luz da própria história.
“Nesse momento, eu lembro que minha orientação afetiva – porque o ser humano não é apenas sexual – não era relevante para mim, o principal era eu sair do crime, me empoderar como uma pessoa dentro da sociedade. Quando consegui dignidade dentro do movimento, já não me encaixava mais com o estereótipo da ficção que eu tinha criado de ‘Barbie negra’. Não era mais nisso que eu acreditava. Ao mesmo tempo, o grupo também já não tinha a mesma força. As meninas queriam seguir seus próprios ideais e eu queria fazer rap”, conta, com certo brilho nos olhos.
Naquela época, Luana percebia que as mulheres ainda não tinham muito espaço para rimar. Em vista disso, ela começou a trabalhar sozinha e se deparou com um divisor de águas. Ao passo que o fato de ser lésbica começou a se espalhar, ela perdeu oportunidades e precisou migrar para outras áreas de atuação para manter o vínculo com a cultura hip hop de alguma forma. Seus olhos através da tela não expressam nenhum sentimento específico ao relembrar os
momentos mais difíceis da carreira, embora o tom de voz se torne mais áspero. O tempo criou calos que ainda doem, mesmo depois de tanto tempo.
“As pessoas começaram a descobrir minha orientação afetiva dentro do movimento e isso atrapalhou meu trabalho. Tive inúmeras portas fechadas na minha cara e eu não podia cantar. Fui meio que banida das noites de São Paulo por uns quatro ou cinco anos. Eu deixei o microfone de lado porque achei que nunca mais teria direito de usá-lo. Pensei: ‘Ah, já que não posso mais falar no movimento hip hop, vou migrar para um lugar em que possa ficar calada e continuar sendo artista’. Foi quando me tornei DJ”, explica ela.
78,61% das mulheres lésbicas do país já enfrentaram algum tipo de lesbofobia e tem conhecidas que já sofreram alguma violência devido ao fato de serem lésbicas (77,39%). Os atos de lesbofobia mais relatadas são assédio moral, com mais de 30% das ocorrências, seguido de assédio sexual (20,84%) e violência psicológica (18,39%).
Fonte: 1º LesboCenso Nacional: Mapeamento de Vivências Lésbicas no Brasil, realizado pela Liga Brasileira de Lésbicas e Associação Lésbica Feminista de Brasília – Coturno de Vênus, em 2022
A lesbofobia pode ser entendida como um fenômeno que “produz contextos específicos de vulnerabilidade dentro dos quais se instauram comportamentos que vão desde as violências brutais como assassinatos, estupros ‘corretivos’ e assédios sexuais até as hostilizações verbais, micropunições, vigilâncias sutis, movimentos restritivos de controle, (re)educação e (re)adequação às normas, ações que expõem não só as dissidentes sexuais, mas todas as mulheres – mesmo as heterossexuais – não enquadradas nos modelos hegemônicos de feminilidade”. Essa definição está presente no texto Lesbofobia familiar: técnicas para produzir e regular feminilidades heterocentradas , escrito pela pedagoga Keith Daiani da Silva Braga, pela doutora em filosofia e história da educação Arilda Ines Miranda Ribeiro e pelo historiador Marcio Rodrigo Vale Caetano.
Em meio ao contexto de discriminação, a possibilidade de permanecer em cena, mesmo que não fosse sob os holofotes
diretamente, foi a forma por meio da qual Luana evitou abandonar a cena e continuar construindo a carreira, ainda que não fosse o que ela pretendia originalmente. “A minha ideia era ficar lá atrás tocando e ninguém ia encher meu saco. Migrei para a modalidade DJ e fui aprender a tocar. Transitando entre os eventos, caí na mão do Rodriguinho dos Travessos, isso em 2010. Eu estava trabalhando com a galera do pagode. Saí mesmo do movimento hip hop e fui para outro setor musical porque queria ser artista, e eu achava que ninguém poderia tirar a minha arte de mim. Como eu não podia fazer o rap que queria, tentei outros caminhos”, esclarece.
Luana acompanhou Rodriguinho em uma turnê pelo Brasil. Após um ano trabalhando com ele, ela percebeu que deveria voltar a ocupar o lugar que sempre quis. Em vista disso, ela abre mão da DJ Luana ou “Luana qualquer coisa” para utilizar o nome Luana Hansen. Sorri com uma certa ironia ao relembrar o motivo pelo qual assumiu seu nome verdadeiro ao invés de um nome artístico. “Na época, era o começo do Facebook e eu passei a usar meu nome depois de uma pequena briga que eu tive por lá. Quando coloquei minha foto no perfil, apareceram um monte de ‘Hansen’s’ brancas que ficaram extremamente incomodadas com o fato de eu ter um sobrenome alemão. Me disseram para usar outro nome, como negrinha. ‘Luana negrinha’. Eu bati o pé e me neguei a fazer isso, porque esse é o meu nome e não é justo eu abrir mão dele”, conta ela.
No final de 2010, além de estar determinada a reconquistar seu espaço na cena hip hop , Luana teve contato com outro movimento muito importante. “Eu sei que esse termo surgiu no mundo a partir da década de 1970, mas para mim, uma pessoa de periferia, foi só depois de alguns anos que conheci a palavra feminismo”. Foi nesse momento que a artista reconheceu que seu próprio comportamento era muito mais do que não se submeter à vontade dos homens. “Percebi que quando eu falava ‘não’ e os caras achavam que eu era arrogante, na verdade era porque eu era uma pessoa empoderada, mas eu mesma não sabia disso”.
Avançando na linha do tempo até a virada do milênio, a partir dos anos 2000 o feminismo ganhou novas óticas e estruturas, como
destaca a historiadora Céli Pinto no livro Uma história do feminismo no Brasil . “Deve-se prestar atenção nesse início de milênio às novas formas que o pensamento e o próprio movimento tomaram, e, para tanto, dois cenários são particularmente importantes: o primeiro refere-se à dissociação entre o pensamento feminista e o movimento; o segundo, à profissionalização do movimento por meio do aparecimento de um grande número de ONGs voltadas para a questão das mulheres”.
No meio do processo de compreender o feminismo e o próprio papel nesse movimento, Luana foi convidada pela diretora Elisa Gargiulo para participar de um documentário chamado 4 Minas , lançado em 2012. Nesta produção, quatro mulheres lésbicas paulistas foram acompanhadas durante um mês para mostrar os reflexos do preconceito no dia a dia. “Elisa foi para a periferia produzir esse material e queria abordar o fato de eu ser uma mulher lésbica no movimento hip hop . Na época, eu não sabia se isso era ou não uma boa ideia, afinal eu tinha sido banida. Mas eu já estava na merda, então não adiantaria nada ficar me escondendo. A gente nasceu nesse lugar e temos que fazer alguma coisa, senão só vamos ser mais do mesmo. Queria que as pessoas entendessem minha trajetória de vida, que foi uma luta. Então decidi participar do documentário e ver até onde essa bucha ia chegar”. Ela carrega certo humor na voz e sorri de vez em quando, como se as lembranças lhe fizessem cócegas.
Ainda em processo de aprendizado, Luana compreende cada vez mais algumas das principais reivindicações do movimento feminista e ganha maior dimensão de si mesma e da vivência de outras mulheres também. “Entendi por exemplo questões como o aborto e racismo. Mesmo dentro do hip hop , eu não tinha tanto embasamento. Foi quando eu percebi que precisava fazer rap sobre coisas que atingem uma mulher preta e lésbica da periferia. Escrevi músicas como Ventre Livre de Fato , e entendi que era isso que deveria fazer no meu trabalho”.
Nasceu, mais um fruto do acaso
E o mané que não quer nada o sobrenome é descaso
Uma gravidez indesejada mesmo com prevenção Não importa sua crença ou religião
E imagina de uma forma perigosa e clandestina Como é que vai fazer para mudar a sua sina Um direito que em vários ‘país’ já é estabelecido
Ventre Livre de Fato – Luana Hansen
A lei e a realidade sobre aborto no Brasil são bem complexas. Interromper a gravidez é um crime previsto no Código Penal e o artigo 124 prevê detenção de um a três anos para mulheres que provocam o aborto em si mesmas ou concordam que outras o façam. Os artigos 125 e 126 também punem a pessoa que provoca o aborto, com ou sem o conhecimento da gestante. A lei apresenta exceção em dois casos, descritos no artigo 128: gravidez em decorrência de estupro e quando traz riscos de vida à gestante. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são realizados cerca de 25 milhões de abortos inseguros por ano no mundo todo.
A Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, realizada pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis) e pela Universidade de Brasília (UnB), um dos principais documentos sobre o tema no Brasil, também mostrou que em 2015, 503 mil mulheres fizeram um aborto no Brasil – uma média de 1.300 mulheres abortando por dia, ou seja, 57 por hora.
Em janeiro de 2019, pesquisa do Datafolha mostrou que 41% dos entrevistados acredita que interromper a gravidez voluntariamente deveria ser totalmente proibido, enquanto 34% defende que as regras atuais devem continuar, e 16% concordam que o aborto deveria ser legal em algumas situações.
*
Uma vez melhor instruída com relação à própria realidade, Luana quis avançar com a carreira, mas novamente teve um obstáculo: não
conseguia encontrar ninguém que quisesse gravá-la. Assim como precisou de uma solução quando foi banida das noites de São Paulo, ela novamente se reergueu sozinha.
“Eu falei: ‘Vou ter que criar meu próprio estúdio’”, conta ela, como se não fosse nada demais. Em seus olhos, porém, é possível reconhecer o orgulho da própria força, mas não de uma forma romantizada como normalmente se vê. “Então eu montei meu estúdio para fazer minhas coisas e criar minha música. É aí que nasce a Luana Feminista, dona do estúdio que todo mundo conhece, porque foi de onde saiu a Linn da Quebrada, por exemplo”, ela sorri.
Luana carrega nas expressões a resiliência de quem precisou renascer e ajudou que outros artistas da comunidade LGBTQIAP+ pudessem ter um lugar ao sol. Linn da Quebrada, por exemplo, é uma cantora, compositora, atriz e ativista social travesti que fala ativamente da importância do combate à transfobia. Após levar o título de Mulher do Ano no Prêmio Geração Glamour 2022, Linn foi ao Instagram para se manifestar, pois recebeu muitos comentários preconceituosos.
Em um dos prints expostos por ela, um internauta diz: “Mulher do Ano? O que ela fez para receber esse prêmio mesmo?”. Já outro faz uma alegação ainda mais problemática: “Já temos uma ganhadora do ano e se trata de um ganhador. Se considerarmos que é um homem, como se diz hoje em dia, biológico”. Linn desabafou, dizendo sobre a falta de empatia das pessoas. “Estou realmente cansada, exausta dessa tal representatividade que não me representa. Não quero mais ser forte, nem lutar. Quero desfazer aquilo que fizeram de mim”, lamentou.
O cientista social Rafael Saraiva destaca que a presença de artistas LGBTQIAP+ no hip hop, como a Linn da Quebrada, Rico e Quebrada Queer “acrescentam à cena são suas perspectivas e vivências, que quando expressadas em suas músicas, graffitis, sets e danças, apresentam ao público novas perspectivas de sociedade. Assim, como a história das transformações do hip-hop estão ligadas a um contexto social e histórico, a emersão dessas novas atrizes tem relação com lutas políticas e sociais contemporâneas, como a luta feminista, e em particular do feminismo negro, assim como a luta por direitos LGBTQI+”.
O relatório de 2021 da Transgender Europe (TGEU), que monitora dados globalmente levantados por instituições trans e LGBTQIA+,
aponta que 70% dos assassinatos registrados ocorreram na América do Sul e Central, sendo 33% deles no Brasil. Esse material também mostra que o país teve 125 mortes no ano passado, além de indicar que 96% dos assassinatos ao redor do mundo eram de mulheres trans ou pessoas transfemininas – identidades não-binárias que se alinham de alguma forma ao gênero feminino ou aos estereótipos de feminilidade.
Paralelo a isso, a Antra (Associação Nacional de Travestis e Transsexuais) reportou 175 transfeminicídios e mapeou 80 mortes só no primeiro semestre de 2021. De acordo com a associação, 90% das mulheres transgênero e travestis do país trabalham com a prostituição devido à falta de acesso ao mercado de trabalho formal.
Para Luana, existe um entendimento coletivo de que as vozes marginalizadas precisam se projetar de alguma forma, pois protestar por meio da arte é uma das melhores formas de expandir a luta para locais que normalmente não seriam alcançados facilmente. “Eu e outras pessoas percebemos que a gente precisava falar. Para gravar, você precisa estar em um lugar amistoso, porque não adianta nada chegar em um estúdio hostil. Você não vai conseguir se libertar. Não existiam lugares para as pessoas serem quem são, então meio que a minha trajetória foi baseada nessa necessidade. Fui me tornando muitas coisas porque precisava desse espaço dentro do movimento”.
O tom da artista é incisivo como faca. Ela mexe nas tranças distraidamente, ao passo que ajeita o casaco arco-íris. As marginalizações sociais pesam para ela tanto quanto para qualquer pessoa que as sinta na pele, independentemente da ocupação – ou falta dela, decorrente do próprio ato político de existir. Luana ressalta que os problemas sistêmicos não acabam dentro dos movimentos artísticos, pois a luta vai muito além deste tipo de fronteira. “O problema de uma sociedade tão religiosa quanto a nossa é que a gente é visto como uma ameaça à natureza”, diz ela, objetiva e firme. “A gente é sempre tirado de tudo. Eu tenho 22 anos de hip hop e já fiz muito discurso de ódio até entender que isso não é um problema do movimento. Eu não sofro homofobia só no meu trabalho, mas também no Uber que às vezes vem me buscar na minha casa. Não adianta cobrar o movimento sendo que, vindo da periferia, ele não teve tanto acesso a muitas coisas. Eu como lésbica poderia dizer que foi difícil viver no meio do hip hop, mas também é difícil viver na sociedade em si sendo quem sou”.
Ainda que as culturas estejam diretamente relacionadas aos movimentos sociais, as formas de opressão continuam vigentes e, portanto, impedem o avanço destas manifestações socioculturais. O mestre em ciências humanas e sociais Miguel Lombas, no artigo Os movimentos sociais e a cultura: o Hip-Hop e o feminismo, esclarece que “embora haja uma relação intrínseca entre os movimentos sociais e cultura, mas queremos aqui destacar que alguns movimentos sociais encontram imensas dificuldades de se instalarem em certos lugares por questões culturais. A título de exemplo, tem sido o movimento feminista negro e a comunidade LGBTQI+ que em certos lugares não importando o continente, são discriminados, violentados, assassinados e inclusive motos por serem considerados como sujeitos ‘contra culturas’ destes lugares”.
“Eu já fiz isso, tá ligado?”, continua Luana, apontando para si mesma com a humildade de quem sabe admitir os próprios tropeços. “Já fui caçar os loucos dentro dos meus, mas preciso entender que esse é um problema muito maior. A gente precisa lutar pela nossa existência, o que já é difícil, e dentro do movimento se torna mais difícil ainda. Até hoje, não temos muitas mulheres produtoras musicais no hip hop. O espaço de produção ainda é machista”.
*
Os acessos à eventos, shows, festivais e outras produções são o principal mecanismo por meio do qual as mulheres, sejam elas LGBTQIAP+ ou não, podem ocupar a cena. Luana ressalta isso, mas também leva em consideração que mais do que estar presente, é preciso fazer isso em grande peso para que haja uma mudança significativa. “Para mim, o problema não está sendo o espaço em si”, explica ela, se ajeitando no sofá. “A questão é quanto de espaço darão para a gente. Acho que estão surgindo vários artistas LGBTQIAP+ no movimento, mas a gente precisa abrir cada vez mais portas. Nunca vai ser o suficiente. A sociedade não é igualitária, muito menos justa. Eu quero mais. Quero ver continuidade. Quero ver carreiras contínuas e como esses artistas vão se manter. Hoje em dia, tem como estar no mainstream sem ganhar nada, com gente pegando seus direitos autorais e subindo as suas músicas nas plataformas por meio de um gravador”.
Luana é a própria produtora e gravadora, ou seja, ela administra o próprio trabalho. Dentro dessa perspectiva, ela se compadece com os artistas que dependem de outras pessoas para prestar esse tipo
de serviço, uma vez que a desigualdade, como já dito anteriormente, está presente em todos os ambientes. “Como sou eu que subo minhas músicas nas plataformas, eu entendo como fazer as coisas para perder o menos possível. Mas me pergunto: e para as outras pessoas, como está sendo? Quais contratos elas estão fazendo? É um contrato justo? É o mesmo tipo de contrato feito com alguém hétero? As oportunidades são as mesmas? Eu vejo o mercado abrir espaço, mas só porque nós estamos obrigando-os a fazer isso. Me pergunto como vão ser as coisas daqui dez anos”, ela divaga, olhando para um ponto além do físico enquanto revira os próprios pensamentos.
Ela também aponta algumas falhas das organizações dos eventos, por exemplo, que não colocam as mulheres em uma posição de protagonismo, mesmo que tenham essa possibilidade. Luana e a esposa Glaucia Figueiredo, que também é DJ, já experienciaram algumas situações do tipo. “A gente faz shows gratuitos em diversos lugares, e sempre colocam a gente para tocar às 10 da manhã de uma terça-feira ou de uma segunda-feira. Quem vai estar lá neste horário? Às vezes sentimos que não temos a mesma visibilidade que outros artistas ganham. Já fizemos Virada Cultural em São Paulo às quatro da manhã, sendo que poderiam ter colocado a gente no horário entre às oito e as 10 da noite. Fica parecendo que não temos qualidade e não atraímos público, que não somos capazes de chegar ao padrão mainstream. Às vezes, colocam a gente em um lugar só para preencher cota”, ela meio que dá de ombros, mas o tom rígido expressa sua revolta palpável com o assunto.
Ao mesmo tempo em que os eventos e a indústria em si alimentam as marginalizações que acometem as mulheres e as pessoas LGBTQIAP+ dentro do movimento hip hop, o papel do público também não pode ser ignorado. Luana se posiciona sobre isso de modo direto enquanto tira a jaqueta arco-íris e mexe nas tranças, se ajeitando no lugar.
“Acho que é uma via de mão dupla”, começa ela. “Eu faço um trabalho que muitas vezes tem um recorte com base nos lugares em que eu me situo. Fico chateada porque, muitas vezes, a galera que faz parte do recorte sobre o qual estou produzindo comparece ao show e curte o meu trabalho, ao mesmo tempo em que outro artista que está no mainstream recebe muito mais atenção dessas mesmas pessoas sem precisar falar das coisas que eu falo, sabe? O que a gente faz é um trabalho de formiga: conquistamos o público por meio da palavra, do
trabalho e da pessoa que eu sou. Pode ser que a pessoa curtiu uma entrevista que eu dei e só depois vai procurar meu trampo, mas em compensação acabam por me acompanhar”. Luana olha para o lado, onde sua esposa está sentada, e então sorri. O mundo não a alcança agora, enquanto mantém contato visual com a parceira, e ela leva um momento para retomar a atenção para o assunto atual.
Somados os dois fatores, indústria e público, a artista comenta que o ramo musical, especialmente para quem desenvolve um trabalho independente assim como ela, possui mais obstáculos do que alavancas que coloquem os profissionais sempre um passo adiante. Em vista disso, ela discorre sobre a importância da essência da música como um propósito, pois essa é a herança mais preciosa que o tempo pode carregar para quem for ouvir uma de suas produções daqui 10, 20, 30, 40 ou até mesmo 50 anos. “Hoje em dia, para ser artista, precisamos de um pacote muito maior, né? Agora, depois de dois anos de pandemia, nós que somos artistas estamos voltando à ativa, e eu sinto que existe uma cobrança maior. Eu posso dizer que deixo a desejar se a pessoa acha que vai entrar na minha rede social e me verá cantando e dançando challenge toda hora. A minha intenção é criar música consciente para que a gente entenda que essa sociedade está alienada e que precisamos torná-la justa”, diz.
Apesar disso, Luana também compreende a lógica da indústria, uma vez que o sistema de produção capitalista transforma toda e qualquer coisa possível em mercadoria. Se ela quiser sobreviver neste ramo, é necessário “ceder”, pelo menos até certo ponto. “Eu entendo que na música nós somos um produto”, ela olha para a câmera com um sorriso de canto, perspicaz. “Tudo faz parte de um mercado, no qual existe uma vitrine. Ao mesmo tempo, tem a parte dos fundos da loja, e você tem que dar uma pesquisada para conseguir encontrar. E a gente tá nesse lugar, mas eu sei que para estar na vitrine precisamos vender muito mais. Hoje a gente opta por vender menos e tentar falar mais daquilo que acreditamos”, ela inclina o celular para mostrar a esposa, que sorri e acena. Lado a lado, as duas permanecem firmes no mesmo propósito – e isso é nítido, nem é preciso perguntar diretamente.
*
Luana e Glaucia possuem dois filhos, um menino e uma menina. Hansen diz que por ser mãe adotiva deles, escolheu a maternidade e estava preparada para isso, um privilégio que, segundo a DJ, nem todas
as mulheres têm. “Eu já sabia que ia ter que abrir mão de várias coisas e mudar a rotina”, explica Luana. O tom não é de pesar, pelo contrário: ao lado da esposa, ela fala dos filhos com um brilho macio nos olhos.
“Todo dia, às 6 da manhã, não importa o que eu estiver fazendo: preciso levar meus filhos na escola e, mais tarde, ir buscar”, exemplifica. “Quando fazemos shows, temos que deixar as crianças com alguém. A Glaucia é mãe biológica deles, e quase perdemos a Manuela quando precisamos viajar para a Alemanha durante uma turnê. Ficamos por lá mais tempo do que o esperado por causa de um erro na passagem e tentaram tirar nossa filha da gente”, ela relembra com pesar.
A lesbianidade e a maternidade são dois polos que, socialmente, não se misturam sob a ótica LGBTfóbica e cis-heteronormativa, como pontua a doutora em saúde pública Maria Eduarda Cavadinha Corrêa na publicação Duas mães? Mulheres lésbicas e maternidade: “As mulheres lésbicas que decidem articular sua sexualidade com a maternidade acabam por ficar socialmente mais vulneráveis, pois a nossa sociedade considera as duas práticas como incompatíveis. Assim, para a mulher assumir a homossexualidade em uma sociedade heteronormativa e, ao mesmo tempo, optar pela maternidade, é necessário percorrer um árduo caminho, onde uma das saídas parece ser a luta pela cidadania plena e consolidação dos direitos da mulher, para que a orientação sexual não represente motivo de exclusão dentro do processo da dinâmica social”.
A DJ ressalta que a mulher que ocupa a posição de mãe e ao mesmo tempo administra uma carreira é duplamente subestimada, e qualquer coisa vira argumento suficiente para questionar a capacidade dela de cuidar dos filhos. “Eu percebo na pele o quanto é difícil ser mãe e artista, fazendo as pessoas nos credibilizarem ao ponto de entenderem que não estamos deixando nossas crianças de lado. Estamos tentando dar um futuro melhor para eles, a nossa intenção é sempre essa”, ao lado dela, Glaucia assente com um sorriso, assinando embaixo nas palavras da esposa.
“Eu já levei o Lenin, meu outro filho, para trabalhar comigo. Ele já foi a show, ficou lá ao meu lado. Agora, não vou falar para vocês que eles são meus maiores fãs porque sou legal com eles, e sim porque sou mãe deles e faço tudo pelos dois. Se precisar brigar, eu vou brigar, como já fiz antes”, ressalta.
Para Luana, a maior dificuldade da maternidade é conciliar o que
elas ensinam em casa com o que os filhos veem fora dela, uma vez que os preconceitos e as violências que vigoram podem atingi-los a qualquer momento. “Tentamos criar eles sem estereótipos de gênero, explicando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sabemos que a sociedade mostra de forma diferente e os vê de forma diferente também. Eu tento protegê-los do melhor jeito que posso. Sei que ficam jogando a heteronormatividade em cima deles, tanto que temos várias conversas sobre isso para ensiná-los a desconstruir essas ideias”, explica Luana, apoiada em silêncio por Glaucia que sorri para a câmera e acena com a cabeça para reforçar as sentenças.
Nesta fase da vida, Luana compartilha que o que mais almeja é aproveitar as coisas simples, porém significativas. A carreira ainda é uma preocupação, mas não a maior delas – embora sua voz não pretenda se calar diante das necessidades políticas. “Estou numa fase na qual quero curtir meus filhos”, deixa claro, sorridente. “Sou uma mulher negra que não sofre a solidão da mulher negra. Tô fora dessa estatística e vivendo de música, mas lógico, graças à mozão aqui, que é certeira”.
“Quanto à minha música, quero começar a produzir com mais parcerias. Atualmente eu faço jingles, gravo algumas coisas. Isso além do trabalho como DJ e MC também. O hip hop foi o que me tirou de onde eu estava vendendo drogas para me tornar alguém. Foi o único lugar em que eu conseguia representar a periferia apenas com papel e caneta. E o hip hop vai além do rap: temos DJ, grafite, dança... Ele vê a periferia, ele tá na periferia. É a linguagem da favela. Não gosto que ninguém conte a minha história por mim, por isso faço questão que ela saia direto da minha boca”.
Quando Luana se despede, ela e Glaucia estão de mãos dadas. Juntas do começo ao fim, a cada palavra, cada comentário, cada sorriso. O casaco arco-íris permaneceu apoiado no sofá, um símbolo material de luta e resistência pelo direito de ser e amar. Luana não está mais sozinha.
No segundo sábado de julho de 2022 acontecia uma edição especial da festa do coletivo As Mina Risca na Barra Funda, em São Paulo, em apoio a Mayra, que teve alguns equipamentos de trabalho danificados após ter sido vítima de violência contra a mulher. O evento foi organizado para arrecadar dinheiro e tentar ajudar Mayra a recuperar o prejuízo sofrido, mesmo que os danos não tenham sido apenas materiais. Ela estava em um relacionamento abusivo que também acabou deixando marcas psicológicas. O que, infelizmente, parece ter se tornado um cenário comum no nosso país.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que houve mais de 619 mil chamadas sobre violência doméstica em 2021. Além disso, o levantamento indica que uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas, o que significa que pelo menos 3 mulheres morrem por dia no Brasil somente por serem mulheres, sendo a maioria desses crimes cometidos por companheiros ou ex-companheiros e realizados na casa da vítima.
“Não toleramos nenhum tipo de agressão contra a mulher. Aqui mexeu com uma mexeu com todas, não dá pra se calar diante da violência de gênero, que tem números alarmantes no Brasil. Fiquem atentes e apoiem as manas - a omissão te coloca do lado do opressor. Pra cima!”, dizia o anúncio no perfil do Instagram. As Mina Risca é o nome de um grupo de mulheres DJs que celebram a cultura dos toca-discos do qual Mayra faz parte junto com grandes nomes da cena, como Tati Laser, Miya B, Vivian Marques, Simmone Lasdenas, Mary G e muitas outras.
Ele existe desde julho de 2020 e o diferencial está em um detalhe: elas fazem edições utilizando 100% vinil. O vinil faz parte da essência da história do hip hop, com uma qualidade do som muito melhor quando comparada com outros tipos de mídia. A agulha do disco consegue captar um som mais completo e puro. Já em um formato digital, esse som é mais comprimido, no qual não é possível ter certos detalhes da música.
A pandemia da Covid-19 forçou o setor musical a suspender as atividades por tempo indeterminado, para desespero de artistas que dependem das festas, shows e festivais
 FOTO: MARCOS BACON
FOTO: MARCOS BACON
para sobreviver. E o As Mina Risca surgiu nesse período, com programações online realizadas de maneira independente e transmitidas pela Twitch, plataforma de streaming gratuita que é popular entre os gamers. “Nós, trabalhadores da Cultura, somos uma das classes mais afetadas pela crise na pandemia, e estamos entre os últimos que retornarão às atividades quando tudo isso passar. Só que, até lá, a gente não pode parar! Amamos nosso trampo e temos trazido um respiro de ALÍVIO com nossas lives - A MÚSICA SALVA! Por isso precisamos muito do apoio de geral para continuarmos nesse corre! Curtam, compartilhem, colem nas nossas lives na TWITCH, fortaleçam nossos DJs com QUALQUER VALOR. Gostou do som, manda um PIX! Ah, e se puderem, fiquem em casa, cuidem-se pra gente sair dessa logo!”, anuncia o pedido de apoio. Hoje, com um cenário mais estável em relação a pandemia da Covid-19 e com a flexibilização das normas de saúde e segurança, o coletivo já faz festas presenciais na região metropolitana de São Paulo, sempre regadas a muito rap e mantendo a cultura hip hop viva e pulsante. Mas antes mesmo de termos o isolamento social para evitar a contaminação do novo coronavírus, os programas voltados à música já não eram dos mais favoráveis para as mulheres. Segundo dados de um levantamento realizado em 2019 pelo DATA SIM, núcleo de pesquisas da SIM SÃO PAULO, apenas 10% das mulheres que trabalham com música são escaladas para festivais e 84% das brasileiras ligadas ao setor musical já foram discriminadas por ser mulher. Índices da ONG WIN (Women in Music) de 2019 também mostram que a cada 10 profissionais contratados no setor musical no mundo, somente três são mulheres.
“Ser mulher DJ sempre foi resistência pura. É uma luta constante por visibilidade, reconhecimento e espaço. Quando comecei a tocar, ainda rolava um papo de que mulher tinha que tocar igual aos caras para ser considerada boa. A gente não tinha as mesmas vivências e oportunidades que os caras tinham, mas a cobrança era três vezes maior pra cima das minas. Então, começamos a nos organizar entre nós, produzir festas, criar coletivos para poder avançar, ganhar experiência, encontrar nossa linguagem, nossa estética e fazer parte da cena. Ainda estamos longe de uma cena igualitária, ainda tem line up de festa, de festival e de casa noturna com pouquíssima ou quase nenhuma mulher. Só que agora temos mais força e conhecimento para bater de frente, debater e virar o jogo. Cansativo, mas não tem outro caminho. Temos que resistir para poder existir nesse universo”, conta Mayra, com uma desesperança na voz, mas otimismo no olhar.
Mayra Maldjian, que atua como DJ, beatmaker e curadora musical, começou a discotecar em 2008 e, de lá para cá, dedica-se a projetos para impulsionar mulheres da música. Ela pesquisa o groove em suas mais variadas formas, com referências na vanguarda do rap, do rhythm & blues (R&B), do soul e da música eletrônica underground. “A minha família sempre foi muito musical, apesar de não ter nenhum instrumentista, nenhum músico ou algo do tipo. É mais aquela coisa de gostar de ouvir música em casa e a gente tinha muito o costume de ficar em volta da vitrola, do rádio. Era tipo um ritual mesmo, uma celebração. E isso sempre me levou a querer trabalhar com música, sabe? Quando você planta aquela sementinha assim e isso vai crescendo com você. Então, desde pequena eu soube que queria trabalhar com música, mas não sabia direito como”.
No contexto da música, é o que indica quando os sons encaixam ou combinam de forma satisfatória. São padrões rítmicos

“Eu sou de 1984, cresci em torno da vitrola, fita cassete, gravando música da rádio, gravando clipe também no vídeo cassete. Eu não tive aquela vivência de frequentar loja de discos no Centro de São Paulo quando era adolescente, porque isso era coisa de moleque, infelizmente. Então, minha escola foram os clipes, revistas e encartes de CD”, lembra. “O rap moldou não só a forma como eu me conecto com a música, mas com o mundo. Me fez olhar para questões sociais, raciais, e me fez entender meu lugar e minhas responsabilidades diante delas”.
E nesse caminho para trabalhar na área, Mayra se formou em Jornalismo na Cásper Líbero e começou como repórter de música e cultura, passando pelas redações do Guia da Semana, da Folha de S. Paulo e da Veja São Paulo entre 2007 e 2014. Em seguida, se dedicou à produção de conteúdo multimídia sobre cultura e diversidade para marcas como Avon, Google e Apple. Ainda na área da comunicação, dirigiu e produziu um documentário curtametragem independente sobre a rapper paulista Yzalú, ao lado da filmmaker e
videojornalista Inara Chayamiti, em que retrata as intersecções entre o racismo, machismo e capacitismo a partir da história de Luiza Yara Lopes Silva, uma mulher preta da periferia, com limitação física e que faz rap no violão.
Sua carreira como DJ também tem vários marcos importantes. Integrou o primeiro grupo feminino de turntablism, a Applebum, ao lado das DJs Lisa Bueno, Vivian Marques, Tati Laser e Simmone. Foi indicada na categoria Melhor DJ do Women’s Music Event em 2018, premiação dedicada a mulheres da música, e no mesmo ano abriu o show da rapper internacional Nicki Minaj no lançamento da parceria TIDAL x Vivo, no Credicard Hall, e fez o set de abertura do Red Bull Music Festival São Paulo, no centro da capital.
curtos que servem como guia na música e que normalmente são repetidos.
sonoros, mixagens e batidas criativas, normalmente usando duas ou mais mesas giratórias e um mixer de DJ.


“Sempre pirei em rap e pesquiso sobre a cultura hip hop desde adolescente. Depois que terminei a faculdade, me inscrevi em um curso de discotecagem na escola da DJ Lisa Bueno e foi aí que tudo começou. Acabei conhecendo uma galera da cena que colava lá e em pouco tempo já tava colando nos rolês, comprando discos e começando a abrir uma festa ou outra. Sou DJ desde então, desde 2008”.
Em 2019, Mayra foi curadora do Red Bull Music Pulso, projeto da marca para pensar e impulsionar a música independente brasileira, em que convidou o produtor musical Grou; o cantor, compositor e multiinstrumentista Wesley Camilo; e as cantoras e compositoras Alt Niss e Tatiana para uma
residência artística. Juntos, produziram duas músicas e realizaram dois shows.
Também mediou uma palestra sobre cyphers no rap no Festival Path com Drik Barbosa e Harlley, do Quebrada Queer, e foi uma das produtoras musicais do projeto Escuta as Minas, do Spotify Brasil, com o objetivo de visibilizar as mulheres na música. Nesse projeto, Mayra estreou como beatmaker, produzindo beats para a rapper Souto MC e para a cantora Bibi Caetano. Ajudando mulheres do rap e R&B a se inserirem no mercado musical, Mayra também vem desbravando o universo da direção artística. Desempenhou esse papel ao lado de Karol de Souza, que lançou seu primeiro disco, “GRANDE!”, em outubro de 2019, e com a cantora Tatiana, que fez as gravações de seu EP de estreia nos estúdios da Red Bull e o lançou em maio de 2020. Ela também acompanha as duas artistas nos toca-discos.
Nos últimos anos, tocou com frequência em casas como CityLights, Kingston e Seen São Paulo, e levou seus sets a festivais e eventos como TNT Energy Stage e Sesc Jazz. “O ‘faça você mesmo’ sempre me guiou muito na vida, principalmente na música independente. Aprendi a divulgar os trampos botando a mão na massa, desde o release até as artes, a roteirizar, produzir e editar vídeos e clipes, dirigir e lançar um disco, montar shows, etc. Mas nem sempre temos tempo ou energia para fazer tudo sozinha”.
Além das apresentações solo e dos grupos mencionados, Mayra também faz parte do Uh! Manas TV, um canal de música com programação inteiramente composta por mulheres e que conta com cerca de100 DJs. O projeto começou na pandemia, com transmissões ao vivo na Twich, e atualmente já se organiza como um coletivo que ocupa espaços e produz conteúdo.
“Entendendo que ser mulher na música (e DJ especificamente), é um ato político de enfrentamento e resistência constante e que a mudança de paradigma que buscamos só é possível com a organização coletiva. A UH! ManasTv é resistência política feminista e coletiva que defende o combate a todos os sistemas de opressão (capitalismo, machismo, racismo, LGBTfobia) e traz em sua razão de existir mudar preconcepções, preconceitos, e transformar pensamentos oferecendo uma narrativa sobre o universo musical inteiramente construída por mulheres onde elas são as protagonistas dessas histórias. A luta das mulheres muda o mundo!”, conta o site da iniciativa.
Para Mayra, mesmo que o movimento hip hop promova debates sobre pautas sociais, ainda acontecem muitas situações de machismo e racismo velado. “São várias camadas pra desconstruir, porque é um espelho do que rola na sociedade. Mesmo que a gente tenha conquistado espaço em alguns lugares,
temos que lutar pra permanecer neles e avançar, ampliar nosso território de ação. É uma luta constante pra não ser boicotada”.
As psicólogas Maria Natália Matias Rodrigues e Jaileila de Araújo Menezes trazem à tona no artigo Jovens mulheres: reflexões sobre juventude e gênero a partir do Movimento Hip-Hop que a inserção das mulheres no hip hop implica também no enfrentamento de violências e de circunstâncias hostis, tanto por conta do machismo quanto devido aos estereótipos que permeiam o movimento a fim de taxa-lo como marginal. “Ocorre que romper com a barreira público/ privado é, por si só, um desafio. No geral, a entrada em um movimento de rua, eminentemente masculino, é dificultada pela própria família que não vê com bons olhos a inserção da jovem nesse contexto cultural. A gramática da casa e da rua marca de modo singular a territorialidade do feminino, e as jovens que vão para a rua são associadas com as mulheres de rua, ou seja, são vistas como disponíveis para abordagens sexuais”.
*
Mulheres que rimam, cantam e fazem um beat pela igualdade de gênero e raça. Esse é o Rimas & Melodias. Na cena desde 2015, o grupo musical formado por Alt Niss, Drik Barbosa, Karol de Souza, Mayra Maldjian, Stefanie Roberta, Tássia Reis e Tatiana Bispo fortalecem a presença feminina no hip hop, passeando pelo rap, R&B e neo soul, com canções que atravessam o cotidiano
das sete integrantes, com temas como racismo, criminalidade, violência contra a mulher e empoderamento feminino de forma sempre provocativa.
Elas declaram que “juntas; cantoras, rappers e DJs somam forças no levante das mulheres no hip hop que, apesar dos avanços, ainda é um movimento dominado por homens”. Mayra assina a direção artística e colagens do primeiro disco do grupo, lançado em 2017 e eleito um dos melhores da temporada. Desde então, Rimas & Melodias tem sido destaque no país.
Baseado nos objetivos para a criação do coletivo, Mayra reconhece a importância da existência de um discurso político dentro do movimento hip hop. “Isso faz parte da nossa existência, não temos escolha, temos que reivindicar nosso espaço. A música, o rap ainda reflete as diferenças de gênero, de raça, de classe que a gente vê na sociedade - ou seja, o mercado musical, seja ele mainstream ou independente, ainda funciona muito no modus operandi patriarcal e excludente. E o cenário é ainda pior para as mulheres mães, negras, indígenas, periféricas, trans, e por aí vai. Mas é importante também não deixar que romantizem a luta. Ser ‘guerreira’ o tempo todo cansa, também queremos falar sobre nossas influências musicais, sobre nossa pesquisa, sobre tecnologia”.
O Rimas & Melodias faz um som que fala diretamente com as mulheres, porque vem de outras mulheres. E essas vivências em comum, por mais duras que sejam, muitas vezes são motivos
de união. Mostrando que, no fim do dia, nenhuma mulher está sozinha. E isso tem um poder inigualável. Estão redesenhando a cena nacional sem competição, é uma construção lado a lado. Algo perceptível nas músicas, nos shows, nos eventos, na abordagem. Aqui, a DJ é incluída com o mesmo destaque que as MCs. Nos palcos, a performance se inicia e o foco se torna aquela mulher que nos acostumamos a ver no fundo. Por mais que o rap tenha a cultura de enaltecer o DJ, ainda falta muito, pois não é comum ver esses profissionais serem reverenciados dessa maneira.
Os DJs lutam para que a classe seja mais valorizada, pois em muitos eventos de hip hop eles sequer são considerados, mesmo sendo um dos elementos-base da cultura. E quando o assunto são as oportunidades de trabalho, mesmo em um cenário em que esse pilar é ofuscado, as mulheres acabam sendo ainda mais invisibilizadas. “Não temos a agenda tão cheia quanto a dos DJs homens, ainda não ganhamos o mesmo que eles, e também existe uma diferença sutil, porém agressiva, na forma de tratar as DJs mulheres que não acontece com os homens, indo desde divulgação desleixada a cobranças absurdas pra ‘encher’ a casa”. Mayra acredita que o público é fundamental para algumas mudanças acontecerem. “Existe uma galera disposta e atenta, que sabe da importância da existência de mulheres - em todos os seus recortes - na cena, então acho que essa conquista não tem mais volta e isso é bom”.



Nascido na cidade do Bronx, em Nova Iorque (Estados Unidos), o breakdance é um estilo de dança urbana que faz parte da cultura hip hop, originado e praticado por pessoas das comunidades afroamericanas e latinas. Contudo, essa manifestação não surge apenas como um gênero de dança, e sim como uma identidade, em especial por parte dos jovens. Perante a realidade marginalizada na qual se concebeu, o break foi como uma válvula de escape.
O hip hop em si, incluindo o breakdance, ajuda a promover a cultura justamente por demandar um processo de desenvolvimento que obriga os indivíduos a estarem constantemente alinhados ao meio onde vivem. No Brasil, o break encontrou solo fértil primeiramente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e foi a partir destas cidades que ele começou a se difundir e desenvolver para criar uma identidade “abrasileirada”, ou seja, alinhada à realidade vivida pelos brasileiros – que era totalmente diferente do contexto no qual os norteamericanos estavam inseridos.
“Assim como nos Estados Unidos, no Brasil o break também foi a primeira vertente de toda essa cultura hip hop. Lá, os primeiros breakers que dançavam na periferia de Nova Iorque, na década de 1960, faziam-no com o intuito de protestar contra a guerra do Vietnã. Os passos da dança simulavam movimentos dos feridos de guerra bem como de instrumentos de guerra. No Brasil não houve essa conotação. Os primeiros dançarinos de break de São Paulo e do Rio de Janeiro, tinham como objetivo diversão e a busca da auto-estima”, escreve o profissional de relações públicas Marcos Alexandre Bazeia Fochi, em Hip hop brasileiro: Tribo urbana ou movimento social?.
A Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, foi o primeiro point dos breakers que deram o pontapé inicial no estilo em território nacional. Porém, graças ao piso inadequado, eles se moveram para a rua 24 de Maio, esquina com a Dom José de Barros, também no centro da cidade. Contudo, assim como todo e qualquer aspecto ligado ao hip hop, o break não era bem visto, especialmente durante a origem. Os praticantes chegaram a sofrer perseguições, além da marginalização sistemática, mas o tempo e a evolução da modalidade, bem como o maior entendimento gradual da importância da cultura hip hop – ainda que seja considerada por muitos como algo indigno –, ajudou a tornar o breakdance melhor reconhecido.
No artigo A presença feminina no movimento Hip Hop: a construção da identidade a partir do breakdance, os pesquisadores Ana Paula Alves e Sebastião Votre afirmam que “o Hip Hop, em parte por ser uma cultura de rua, apresenta alta predominância masculina. O break, por ser composto de movimentos vigorosos e de força, supostamente não favoreceria a presença feminina [...] A atitude feminina em dançar break mostra o eu autêntico ligado à formação da integridade pessoal das mulheres dançarinas como ponto de referência para a estruturação de sujeitos capazes de construir e reconstruir suas histórias”.
Infelizmente, assim como em outros elementos da cena, a presença da mulher é colocada de forma secundária ou até mesmo meramente ilustrativa, como pontua a socióloga Wivian Weller, em A presença feminina nas (sub)culturas juvenis: a arte de se tornar visível: “Percebe-se, no entanto, que o interesse pela participação feminina no movimento se restringe a um papel secundário no interior do grupo. Enquanto os rapazes apresentam os movimentos acrobáticos, as mulheres disponibilizam seu corpo para melhorar a imagem do grupo, seja como apresentadoras do grupo (Front-Girl), como decoração no fundo do palco (Background-Girl), ou ainda para dar à performance como um todo um certo ar de exotismo”.
Tendo em vista isso, pode-se dizer que a presença das mulheres em um lugar significativo no break é recente. Em julho de 2022, por exemplo, ocorreu o Prêmio Hip Hop Lugar de Mulher, realizado pelo coletivo Nunca Fui Barbie. O objetivo foi dar visibilidade às performances femininas nos quatro elementos da cena, incluindo breakdance. Foram 11 prêmios distribuídos entre mulheres cisgênero (ou seja, que se identificam com o gênero que lhes foi imposto ao nascimento) e transgênero (aquelas que não se identificam com o gênero masculino imposto ao nascer) de todo Brasil.
Vale, portanto, abrir os olhos para as mulheres que dedicam uma boa parte de suas vidas à dança hip hop, seja nos vagões, como muitas fazem, ou por meio de coletivos e grupos que tentam levar a arte até a maior quantidade de pessoas possível.
“A dança para mim é como oxigênio. Se eu não dançar, não estou bem”, diz Carolina Beatriz Pereira Reis, hoje aos 19 anos, mas à luz da sua criança interna que desde a infância respira por meio da dança – mais especificamente dentro do movimento hip hop. A manhã de sábado floresce do lado de fora enquanto ela se apruma diante do celular, sorrindo para a câmera. Do outro lado da chamada de vídeo, parece animada perante a oportunidade de ser ouvida.
“Aos 11 anos, comecei a dançar hip hop por meio de um projeto social perto de onde eu morava, aqui na zona Leste de São Paulo. Na época, minha professora me acolheu de um jeito que eu nunca tinha sido quando era menor”, relembra. Carol respira fundo e se emociona.
As lágrimas escorrem antes que ela possa conter, e ela pede um momento para se recompor. A voz que sai é cheia de lembranças dolorosas da época que foi podada de fazer o que amava.
“Eu comecei na dança com o balé, aos 7 anos”, explica Carol. “E eu amava essa modalidade, como ainda amo atualmente, mas apenas como espectadora. Minha professora dizia que eu não seria uma boa dançarina e que não me reconheceriam como uma porque eu não tinha um corpo bonito e padrão. Isso me machucou demais durante muito tempo e eu parei de dançar por um período, porque toda vez que eu dançava as palavras dela vinham à minha mente. Desenvolvi uma espécie de complexo e medo da dança durante muito tempo, e o que me puxou de volta para esse universo foi o hip hop. É o que eu danço até hoje e não largo mais”, ela sorri, como o arco-íris depois da chuva. A esperança que nasce depois da tormenta.

O conceito ganhou forma e presença principalmente por meio da internet, em movimentos que buscam combater as falas, ações e aspectos culturais que colocam o corpo gordo como doente, inferior, feio e alvo de piada, algo que pode ser ridicularizado. A gordofobia, portanto, se refere à aversão e à violência social e estrutural sofrida por pessoas que não se adequam ao padrão de beleza vigente, que por sua vez cultua a magreza
Enxergar o seu corpo como digno de se expressar foi um processo muito marcante para Carol, especialmente levando em conta o trauma da primeira interação com a dança. Após essa pausa de quatro anos, ela retorna, desta vez sob a ótica do hip hop, majoritariamente, mas também teve contato com outros estilos que marcaram sua trajetória.
“Quando entrei para o hip hop, minha professora disse que a dança é o que o seu corpo reverbera, independentemente da estética, seja baixo ou alto, gordo ou magro. A dança é sua e ninguém pode julgar ela. Eu levava como uma brincadeira, dançava por diversão e hobby. Depois disso, comecei a explorar outros estilos, como kpop. A partir daí, ficou mais sério. Passei a participar de competições valendo prêmios”, relata.
Sobre o caráter pedagógico do hip hop, o especialista em políticas públicas e formação humana Sérgio Domingues explica que pode ser analisado nessa capacidade de primeiro entender a lógica dos elementos do senso comum para então denunciá-los. Em A contribuição do hip-hop para a construção de pedagogias de resistência e de transformação social, escreve que “ser pedagógico implica respeitar a realidade e concretude da vida das comunidades pobres dos grandes centros urbanos para denunciar os elementos nela presentes que constituem o consenso necessário à manutenção da exploração e opressão. Significa estabelecer relações dialógicas e dialéticas a partir dos acúmulos provenientes de lutas seculares de resistência popular contra a dominação burguesa, lastreada em valores conservadores antigos e novos”.
FOTO: ARQUIVOVoltando para os estilos de dança, o k-pop é um gênero musical sul-coreano caracterizado, entre outras coisas, pela quantidade de coreografias. Dentro deste universo, as performances são muito importantes, então os k-idols – artistas de k-pop – costumam cantar e dançar ao mesmo tempo, e as coreografias geralmente são bem complexas, especialmente em grupos que possuem de 7 integrantes para cima.
“Mas eu tinha um estresse com o k-pop”, pontua ela, rindo. “Precisávamos fazer tudo bonitinho porque é um estilo muito ‘certinho’”. Além das aulas do projeto social, Carol conseguiu trazer o hip hop de vez para a rotina graças a um grupo vinculado à Atlética Grifo da sua universidade, Anhembi Morumbi, onde ela cursa Educação Física.
“O grupo surgiu há cinco anos. Nossa treinadora fazia parte de uma organização de cheerleaders, mas ela não queria ficar presa nisso, então criou o Harpias Dance, com uma vertente alinhada ao hip hop. Todo mundo confunde a gente com um grupo de cheerleaders, porque é mais comum entre as atléticas”, explica ela.
O
“Eu entrei no grupo esse ano, porque parei e pensei: ‘Bom, eu quero estudar, mas a dança não vai ser apenas um hobby, quero levar como uma profissão. Passei no processo seletivo e agora faço parte do Harpias há um semestre. Nos últimos jogos universitários nós fizemos uma apresentação. Foi muito maluco, a gente
se deslocou até São Carlos, interior de São Paulo”, relembra ela, com um brilho sonhador nos olhos.
Ao ser questionada sobre a rotina destes deslocamentos e das próprias apresentações em si, Carol se empolga. É como se a simples menção da dança fosse suficiente para enchê-la de uma energia que a domina, quase como uma aura. “Em dia de apresentação rola todo aquele lance de ansiedade, mas quando estou no palco muda totalmente”, responde, certeira. “Queria que todo mundo tivesse essa sensação de subir em um palco e demonstrar o que você mais gosta de fazer. É muito bom, dá aquela serotonina, sabe? Nossa, você esquece de tudo. Sentir a reação do público, experimentar a incerteza da próxima apresentação e de novo vivenciar a adrenalina do momento é uma energia incrível, vai te contagiando”.
Para ela, dançar é mais do que uma atividade avulsa da rotina; é parte dela, uma parcela intrínseca da qual Carol não consegue abrir mão – e também não quer, muito pelo contrário: “Sabe aquela frase ‘quem dança seus males espanta’? Em qualquer situação possível eu estou dançando, seja no trabalho ou na faculdade. O hip hop é minha salvação, nem tenho palavras. Todo dia ele está ali presente na minha vida, tanto em momentos nos quais estou muito mal quanto em momentos felizes. Sempre que eu acho que não vou conseguir passar por alguma coisa, dançar me mostra que sou capaz sim”.
*
Ter passado pelo balé clássico e pelo kpop criou algumas barreiras em Carol, mas manter o contato constante com o hip hop lhe ajudou a explorar melhor as próprias capacidades. “O Harpias agora está
termo significa líder de torcida e faz parte do cheerleading, uma atividade na qual os participantes torcem para sua equipe esportiva como forma de incentivo. Varia entre gritar slogans e realizar performances físicas
quebrando muito do que o kpop formou dentro da minha mente durante muitos anos”, explica ela. “Esse processo de quebrar o paradigma que diz que a dança é formada de linhas bonitas e todo mundo sincronizado é complicado, e o Harpias me ajudou nisso. É uma questão de construção e autoconhecimento, de perceber que o que você gosta não está errado”.
Carol conta com um brilho nos olhos que ainda tenta encontrar o próprio espaço dentro do movimento, uma vez que a dança no hip hop possui muitas vertentes. “O break tem alguns fundamentos. Eu sou meio roubada porque sou pequenininha, e ter um corpo pequeno torna dançar break mais fácil, porque você consegue ter mais agilidade nos movimentos. Mas de qualquer forma exige muita prática e dedicação”.
Dentro do movimento hip hop existem outras modalidades de dança além do breaking. Junto com ele, os mais famosos são o popping e o locking, desenvolvidos na década de 1970. O primeiro foi inspirado pelo segundo, e consiste em uma técnica de “quicar” – chutar –, contraindo e relaxando os músculos para causar um “empurrão” no corpo do dançarino que se refere ao “estouro” ou batida. Essa sequência é realizada continuamente no ritmo da música.
O locking, por sua vez, é inspirado na dança funky, em especial um passo chamado funk chicken. O estilo possui um vestuário próprio, que inclui peças coloridas com listras e suspensórios. O nome vem do conceito de “bloquear” ou “trancar” os movimentos, e a dança consiste em passos rápidos e distintos de braços e mãos combinados com movimentos mais relaxados dos quadris e pernas.
O locking “surgiu em Los Angeles, Califórnia, criado por Don Campbell, que em 1972 formou o grupo The Lockers, o primeiro profissional com esta linguagem na história. O estilo foi incorporado ao Movimento Hip Hop no início da década de 80”. Já o popping, também veio da Califórnia, com a “criação creditada a Boogaloo Sam, que logo mais formaria um grupo chamado Electric Boogaloo. O Popping é tida como o desenvolvimento de uma dança antiga, o Robot (que era apenas a cópia dos movimentos mecânicos de um robô). O estilo ficou muito mais complexo quando Sam começou a se inspirar em passos usados pelo cantor James Brown que o próprio chamava de Boogaloo (fazendo ondas pelo corpo)”. Esse relato cronológico está presente na publicação O Processo de Transmissão da Breakdance: Técnicas Corporais Presentes na Dança do Movimento Hip-Hop, do filósofo Vanilto Alves de Freitas.
Enquanto busca pela sua linguagem na dança, Carol cita algumas de suas principais inspirações. “A primeira é a Zendaya. Na época em que eu comecei a dançar, ela tinha lançado uma música chamada Replay. Eu adorava aquela música, tanto que escuto até hoje, além de que a coreografia é muito boa”. A atriz, cantora e compositora norte-americana ganhou notoriedade por meio de alguns trabalhos no Disney Channel, como Rocky Blue na série Shake It Up. Ela tem outros trabalhos notórios mais recentes, como o papel de Rue na série Euphoria, da HBO Max, e de MJ nos filmes Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Homem-Aranha: Longe de Casa e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.
“Também tenho inspirações no Brasil, como a minha treinadora”, continua Carol. “Além dela, tenho uma paixão enorme por
uma mulher chamada Jess Nascimentto. Ela é uma pessoa muito forte dentro da dança no país. Já foi até disputar em Paris e Amsterdã representando todos nós”. A dançarina a qual Carol se refere é especializada em waacking. Esse gênero faz parte do leque de danças hip hop e surgiu em 1971, nos clubes gays underground de Nova Iorque, Estados Unidos, embora a cultura em si venha de Los Angeles. Consiste basicamente em um estilo de dança vertical que se desenvolveu na Costa Oeste com a interpretação LGBTQIAP+ do locking. A ênfase está em movimentos complexos e dinâmicos dos braços e mãos e incorpora poses – técnica chamada de vogueing
Além de dançarina de waacking, Jess Nascimentto é professora e coreógrafa. Ela começou a praticar danças urbanas em 2009, no projeto social João Roncon Arte e Movimento, na cidade de Ribeirão Pires (SP). Nascimentto integrou por cinco anos a Cia Ritmos B.A.S.E., uma companhia tradicional do estado de São Paulo, e focou seus estudos no hip hop, incluindo, além do waacking, o house dance. Em 2015, fez parte da Cia. de danças urbanas Ritmos Family, uma referência nacional nas danças urbanas. Já em 2016, Jess venceu 7 prêmios com a coreografia Orientalizando, e essa foi umas de suas premiações mais importantes no Festival de Dança de Joinville.

com ênfase em passos de perna rápidos e complexos combinados a movimentos fluidos do tronco. Neste estilo, os braços não têm muita importância.
Para além da fascinação pela dança, Carol reconhece que o ramo ainda não é gentil com as mulheres que tentam conquistar o próprio espaço. Ela avalia principalmente a falta de presença feminina nos encontros direcionados à cultura hip hop. “Eu sou nova dentro do movimento, mas, em todos os eventos em que eu já fui, tinham poucas mulheres dançando. É assustador ver que homens têm predominância na cena. Há algum tempo eu fui a um evento de hip hop na Faria Lima, e de todas as batalhas de dança que eu assisti deu para contar nos dedos: apenas três mulheres batalharam e só uma conseguiu chegar à semifinal”, conta.
O termo se refere a uma cultura submundo, ou seja, que foge dos padrões comerciais e dos modismos propagados na mídia.
Porém, na visão de Carol, ter mais mulheres na cena não é apenas uma questão de presença em si, mas também de solucionar uma dinâmica de opressão e exclusão que começa antes mesmo que elas tenham a oportunidade de ir aos eventos e competições.
“Falta atuação, e acho que o machismo não está presente apenas nas competições, mas desde o início. Fazer a pessoa pensar que ela não pode sequer se interessar por essa cultura, que não pode ser uma dançarina”, explica. Ela solta uma risada quando seu gato sobe na mesa e passa diante do celular, desfilando despreocupadamente. Ainda assim, Carol não perde o fio da meada na linha de raciocínio.
“Acho que é muito estrutural. Pelo menos nos eventos em que eu fui, os caras até que respeitam bastante, mas no quesito de ser mulher e se colocar na batalha, é realmente complicado. A mulher tem que se sentir capaz de estar naquele ambiente”, continua. Considerando o espaço que ocupa e o que pode alcançar no futuro, Carol assume um tom sonhador quando divaga sobre os próprios sonhos e para onde a dança pode levá-la de agora em diante.
No trabalho Cores e rimas dos tensionamentos de gênero no movimento hip hop, a psicóloga Jaileila de Araújo Menezes e as mestras em educação Renata Paula dos Santos Moura e Maria Luiza Souza investigam as questões de gênero em nossa sociedade como um todo e também especificamente nos espaços em que o hip hop atua. De acordo com as autoras, “por conta da recalcitrância dos códigos machistas as mulheres vivenciam
múltiplas situações de desigualdade que impactam em suas possibilidades de participação político-cultural”, e, no movimento hip hop, “elas vivenciam dificuldades de participação em relação a suas possibilidades de livre circulação pela cidade, pois ficam moralmente mal vistas por estarem na rua e são facilmente alvos de abordagens intimidadoras e com claro risco a sua integridade física”.
“Eu quero me profissionalizar na dança e começar a dar aulas. Já faço isso pontualmente, ensinando coreografias de kpop para algumas pessoas, mas não é algo meu, e sim uma reprodução do que eu vejo. Vai demorar até que eu encontre minha própria essência”, explica Carol. “Eu estou fazendo Educação Física, então o foco também é me formar para ter um diploma. Ainda não sei se vou fazer licenciatura ou bacharel, mas tenho certeza que quero dar aulas e ser bem ativa nesse ramo. Para mim, a Educação Física é muito mais do que musculação. Todo mundo da minha sala é bombado, mas andar pelo campus com bolas de vôlei debaixo do braço e jogar é bem mais legal. Além da estética, a Educação Física também mostra o lado da saúde, no sentido de que todos podem fazer exercícios”.
“Eu não sei ainda em que área da dança vou me aprofundar, mas jamais vou abandoná-la, porque ela já está vinculada a mim, é uma parte de quem sou”, sorri para a câmera, decidida. “Eu quero ser professora para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu comigo lá atrás, quando tive alguém me dizendo que eu não iria conseguir”.

- Desculpa interromper a sua viagem. Vagão quieto, lotado de pessoas indo ou voltando de seus compromissos. Quezia entra, liga a caixa de som e começa a sua performance. Enquanto dança, conversa com o público, muitas vezes exigente, contanto um pouco da sua história e do porquê está ali. O trem segue em alta velocidade e sujeito a frear a qualquer minuto sem aviso prévio enquanto ela se apresenta, com movimentos de alto grau de risco e dificuldade. Ela gira e desliza pelo chão para ganhar uma renda e disseminar a cultura hip hop para o máximo de pessoas que conseguir. Todo dia, de estação em estação, tenta mostrar a sua
arte no transporte público enquanto dribla a fiscalização dos guardas.
Em São Paulo, apresentações artísticas dentro dos vagões são proibidas pelos regulamentos do Metrô e da CPTM. Os problemas apontados são os aparelhos sonoros que, de acordo com a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, podem incomodar os passageiros e atrapalhar os avisos oficiais; e também a locomoção no espaço, com uma circulação que, muitas vezes, interfere na operação do transporte, bem como na comodidade e segurança das pessoas que utilizam o serviço.
É comum escutar recados nos alto-falantes sobre não dar esmolas a pedintes e artistas, além de um reforço para não contribuir com o comércio ambulante. A companhia orienta a denúncia das apresentações via SMS e os funcionários são autorizados a retirar os artistas do local. Mas, mesmo sendo um trabalho informal, uma das principais fontes de renda de Quezia ainda é o dinheiro recebido com as apresentações nos trens, afinal não é só de aplausos que vivem os artistas de rua. Para evitar repreensão, seus shows de dança geralmente começam depois do sinal de fechamento das portas, são curtos e têm intervalos de acordo com as paradas. Além da questão financeira, a valorização da arte e cultura, especialmente a periférica, é uma das suas principais reivindicações nesses espaços.
Quezia, mais conhecida como Keka, está inserida no universo do breaking desde 2012, quando começou a treinar no Centro Educacional Unificado (CEU) Perus, complexo que oferece atividades educacionais, culturais e esportivas na zona Norte da capital paulista. “Eu era uma pessoa muito tímida na escola, não fazia nada, tinha déficit de atenção. Eu começava a escrever uma coisa, parava na
metade e nunca terminava por causa desse problema. Até que na escola teve um festival de talentos. Comecei fazendo poesia, depois fui para a dança. Assistia filmes como Se Ela Dança Eu Danço, e passei a me entender. Eu queria dançar, mas não sabia. Colocava um beat do Chris Brown, Beyoncé, o que quer que fosse, e fazia freestyle. Eu não sabia dançar nada, mas me expressava. Depois que eu conheci o breaking, me apaixonei. Em dias de frustração, em que você tá irritada e tudo está dando errado, é o momento de ligar o som e deixar tudo de lado”.
Na época, os treinos aconteciam todas às terças e quintas-feiras e tinha uma turma de mais ou menos 20 pessoas. Ou melhor: de mais ou menos 20 homens. “Logo quando eu comecei, eles não davam a mínima para mim, que sou mulher e só queria dançar e aprender. Mas depois eu fui colando lá e os caras se propuseram a me ensinar”. Mais para frente, em 2015, Nathália, uma amiga muito próxima e parceira de Keka em alguns trabalhos do vagão também começaria os treinos no CEU Perus.
“As mulheres que se incluem no meio urbano, seja no rap, grafite ou dança são muito discriminadas, e inferiorizadas, a estas é deferido que não têm capacidade o suficiente para fazer determinado movimento ou determinada arte”. Isso é o que a professora de dança Adriele Albuquerque de Oliveira escreve em Danças Urbanas: Desmistificando Conceitos do Gênero Feminino no Breaking. De acordo com ela, a partir do senso comum, é entendido que “a mulher deve fazer outras danças, devem ser delicadas e sensíveis, não devem dançar este estilo que é ligado quase que automaticamente ou sexo masculino, como um estilo marginal”.
Em ritmo de muito preparo e já considerando o breaking como profissão, Keka, Nath e uma terceira menina trabalhavam juntas nos
trens, mas começaram a ter muitos problemas com alguns homens que também atuavam dançando no transporte público. “A gente ficava brava porque os caras não envolviam a gente nos trabalhos. Chegamos a morar juntas, nós três, e a gente precisava trabalhar. Então criamos um grupo em 2018, porque já que os caras não incluem a gente no vagão, vamos fazer por nós mesmas”. O show ficou dividido da seguinte forma: Keka e Nath dançavam e a colega delas rimava e, de vez em quando, mandava uns passos também.
A terceira integrante do grupo decidiu sair para seguir outros caminhos e, nisso, uma mulher que também trabalhava de MC nos vagões conheceu as meninas e quis fazer parte do grupo. Até o momento, eram Keka, Nath e Flor. “Eu e a Nath estávamos nos descobrindo como MCs também, foi quando a gente começou a escrever”. Logo em seguida, entrou mais uma pessoa, mas que também acabou saindo, e, por fim, chegou uma conhecida de Flor, a Gabrielle.
Hoje, esse grupo conta com quatro mulheres e se chama Marretas do Hip Hop (MDH). Flor é de Cuiabá (MT), e está em São Paulo desde 2016. Entrou em contato com a cultura hip hop por meio das batalhas de rap que participava na sua cidade natal. Começou a rimar em 2017, trabalhando sozinha por três anos nos vagões, e hoje, além da atuação no MDH, lidera a Batalha do Verde, que acontece toda quarta-feira no Jardim Maristela, zona Sul de São Paulo. Gabrielle, vulgo Leona MC, também veio de Cuiabá (MT), onde dava oficinas de música de percussão e organizava batalhas e slams. Veio para São Paulo em 2020 com o objetivo de ganhar a vida por meio do hip hop, e, no meio dessa jornada, conheceu as outras meninas.
Competição
Depois,
apresentações
construído até aqui. O que transborda da relação entre as quatro é a cumplicidade, o respeito e o companheirismo. Cada uma é muito diferente da outra, vieram de lugares distintos, possuem vivências únicas, mas o amor pela arte é o que as une. Nessa caminhada, se tornaram muito amigas e vivem quase como uma família.
As mulheres do MDH respiram hip hop e, além dos shows, tentam passar suas experiências para as pessoas que estão no meio em que vivem fazendo trabalhos em CEUs, atuando como arte educadoras e ministrando oficinas. “É muito prazeroso ver que nosso esforço tá fazendo o corre virar. Não é fácil, porque a gente é mina. Foi por causa disso que foi criado o MDH, justamente porque a dificuldade para gente sempre é maior. Mas todo mundo se interliga, cada uma vai ajudando um pouquinho, interagindo, e a gente tem conseguido”. Elas têm em comum a vivência nos trens e o amor ao hip hop, e tentam proporcionar uma experiência que vai além de uma apresentação de rap, sendo uma performance que abrange tudo que envolve essa cultura.
“Ainda existem muitos eventos dividindo as manifestações, sendo que era para estar todo mundo unido e se ajudando. Então, o que a gente puder fazer com os quatro elementos do movimento hip hop para diminuir essa divisão, vamos fazer. É nisso que eu acredito e é isso que o MDH tenta fazer. A gente também acredita em um quinto elemento, que é o conhecimento. Não vamos ter os quatro se a gente não buscar sempre conhecer cada elemento, porque é uma expressão diferente da outra. A gente tenta viver os quatro para poder sentir e entender cada um”, conta Keka, orgulhosa do que ela e o coletivo têm

Apesar da paixão pelo que fazem e de se unirem para tentar superar o machismo presente na sociedade e que reflete no hip hop e em tantas outras estruturas, já enfrentaram algumas situações desconfortáveis nos vagões relacionadas às questões de gênero. Keka destaca uma ocasião que ocorreu logo no início dessa jornada, quando ela tinha 18 anos e se apresentava com uma colega de 13.
“Na hora de passar o chapéu, os caras queriam pegar o WhatsApp, entre outras coisas. Uma vez, a minha amiga apoiou no corrimão e passaram a mão nela. Ela ficou apavorada e contou para mim o que aconteceu. Eu já falei para o cara: ‘velho,
de poesia falada em que pessoas leem ou recitam um trabalho autoral que traz questões da atualidade para debate.
as
são julgadas por membros selecionados da plateia ou então por uma comissão de jurados.
sai andando, senão você vai ser linchado no vagão’”. Atualmente, Keka também escreve e atua como MC, então reveza as suas apresentações: algumas vezes vai sozinha para dançar, e em outras vai com alguns colegas para rimar. “Hoje, trampando sozinha, está mais tranquilo e ninguém mexe, mas antes era um pouco mais frequente. Mas assim, com relação ao trabalho mesmo como mulher no hip hop que tem é muito produtor querendo gravar e na verdade existe uma intenção a mais por trás, ‘tá ligado?”, conta ela.
Segundo a teórica feminista Bell Hooks na obra E eu não sou uma mulher? Mulheres negras e feminismo, toda essa visão sexista da mulher é fruto do patriarcado, em que não são somente as mulheres são vítimas de violência em casa, mas crianças também, principalmente as do sexo masculino. Isso porque, desde pequenos, são forçados a um comportamento que nega qualquer sensibilidade ou comportamento que seja lido socialmente como feminino, tendo a violência como método para ensinar a serem o que a sociedade solicita.
“No break, a gente normalmente dança de bermudão, no máximo um cropped, e mulheres são chamadas de b-girls e os homens de b-boys. Muitas vezes, você cola em um evento de breakdance e a pessoa te chama de b-boy. Às vezes, os caras que estão organizando têm um discurso e uma mente da época da pedra e temos que ficar corrigindo. Gente com 25 anos no hip hop comete esse erro”. Pode parecer uma coisa super simples para a maioria das pessoas, mas isso é algo que incomoda muito Keka. “Eu fui em um evento esses dias e tinham sete b-boys e o pessoal esquece totalmente das b-girls, sendo que eu era jurada. Como pode isso? Ter uma jurada mulher, mas não ter mulheres competindo?”.
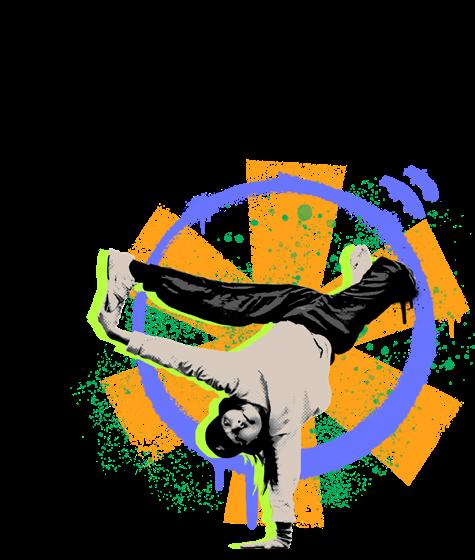
As mulheres ainda são muito ausentes na cena do breaking . Por exigir força e resistência para realizar os movimentos, é um estilo de dança considerado masculino, e geralmente não se abrem brechas para que as mulheres protagonizem a modalidade. Mas Keka acredita que não só no hip hop , mas como em vários setores, as mulheres têm conseguido conquistar seu espaço, mesmo que com muita luta. “Antes, o machismo era bem mais forte, ao ponto de a mulher não poder falar nada, tinha só que abaixar a cabeça. Hoje em dia, a gente bate o pé e fala ‘vou fazer, se não gostou, só lamento’”.
Em uma fase da sua vida, Keka largou a dança por cerca de 3 meses por um
emprego de telemarketing , no qual vendia seguro de vida, porque a situação começou a apertar e ela achava que o breaking não ia dar frutos. Mas acabou se frustrando muito nesse processo. “O mundo tenta fazer a gente se curvar e se adaptar a ele, então você tem que ser ‘carudo’. Quando saí de lá e voltei a dançar, entendi quem eu sou e o que eu faço, então eu me sinto satisfeita e bem por poder me expressar dessa forma”.
Para ela, o objetivo é conseguir se estabilizar e separar uma renda para as contas fixas e também para ter momentos de lazer com a família – seu namorado e seu filho, chamado Yan. “Queremos viver, não apenas sobreviver. Às vezes a gente tem que fazer o corre mesmo doente, porque ‘nóis’ que é autônomo, a gente vive da arte. Se a gente tivesse um dinheiro guardado e precisasse de alguma coisa, seria mais fácil. O foco mesmo é ter dinheiro para viver e para se divertir, cuidar dos filhos e ter geladeira e armário cheios”.
“A sensação de pagar suas contas vivendo do que você ama é satisfatório demais. É libertador. Você fazer as pessoas conhecerem sua arte, se inspirarem e se descobrirem em relação a ela é muito legal. Foi o que aconteceu comigo: ver pessoas dançando e elas me ensinarem a fazer isso me permitiu dançar para pagar as minhas contas”. Mas mesmo fazendo o que ama, conseguir arcar com todos os custos de vida ainda não é fácil. Para participar de eventos em outras cidades
com a sua outra crew , chamada We Can Do It Bgirls, que existe desde 2011 e reúne mulheres de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Pará, Amapá, e até mesmo da Argentina, Keka às vezes pede ajuda para arcar com os custos de passagem e alimentação para os seus seguidores no Instagram.
Para tentar dar um impulso na sua carreira, ela também já participou duas vezes do Red Bull BC One, a primeira na edição de 2021 e a segunda na edição de 2022. O Red Bull BC One é o maior campeonato mundial de breaking que acontece desde 2004 e todos os anos profissionais de vários países competem em seletivas regionais, chamadas cyphers , e os dançarinos que passam nessa fase vão para a final nacional. A competição funciona no formato 1x1, com duas a três entradas dos dançarinos em cada round.
As apresentações levam de 30 segundos a 1 minuto, a depender da estratégia adotada pelo participante em cada um dos momentos, e os vencedores nacionais participam da Last Chance para garantir uma vaga na Final Mundial: um torneio mata-mata no qual os participantes dançam em frente a um painel formado por cinco jurados e têm algumas habilidades avaliadas, como técnica, criatividade, originalidade, combinações etc. De cada seletiva saem quatro vencedores, sendo dois de cada categoria (feminina e masculina). Já a Final Nacional reúne 16 b-boys e 16 b-girls , consagrando apenas um homem
e uma mulher para representarem o país. Os finalistas disputam a Last Chance junto com todos os vencedores das cyphers regionais do mundo antes de se classificarem para a grande Final Mundial.
Mesmo sem conquistar o título, Keka não desanima. Ela quer continuar treinando para, quem sabe daqui um tempo, tentar novamente. “A vida é se permitir. Fui e dou meu nome sempre, não importa a sentença da batalha. Foi foda rever várias pessoas e sentir o carinho do público que já me trombaram em outras oportunidades. Vou voltar a treinar, pois essa competição foi só para dar um impulso a mais. Eu não esperava participar da edição de 2022 da Red Bull One BC. Independentemente do resultado, mantenho o meu legado de fazer hip hop porque eu amo, porque me salva e porque salva vários”.
“Mano, hip hop é periferia, é favela. Aquelas pessoas estão cheias de neurose e precisam de uma válvula de escape. Eu sei que o breaking está nas Olimpíadas, e acho que é uma oportunidade para a criançada e os adolescentes que estão vindo agora. Alguns vão aprender na escola ou na academia, mas a essência mesmo é só quem vive lá na batalha de rua, em que tá todo mundo ali com os seus perrengues, mas mesmo assim se reúnem para compartilhar o momento. A essência é o que importa”.
Sim, o breaking agora é um esporte olímpico e estreará na edição de 2024, em
Paris. Há uma grande expectativa de que isso contribua para a profissionalização da prática, mas o esporte pode não ter o apoio esperado. No Brasil, falta estrutura para que dançarinos treinem movimentos de maneira adequada.
O Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD) é responsável pela seleção brasileira desde 2021, quando se criou uma comissão para cuidar das partes administrativas e práticas. Além de organizar e auxiliar na seletiva de dançarinos para integrar a equipe nacional, busca acesso à estrutura do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para oferecer recursos de apoio. O suporte financeiro é essencial para o desenvolvimento dos atletas que representarão o Brasil, visto que, assim como em outras modalidades olímpicas, é difícil ter condições para uma estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, rendimento no esporte.
Em 2021, o governo do estado de São Paulo anunciou o projeto Breaking no Capão, um centro de treinamento especializado a cerca de 500 metros da estação de metrô do Capão Redondo, com academia esportiva, espaço multiuso para o treinamento e apresentações, alojamento e banheiros. Além da preparação dos atletas, o espaço também disponibiliza atividades culturais para a comunidade, como cursos de grafite, fotografia, edição de vídeos e história do hip hop . Na mesma linha, foi inaugurado em agosto de 2022 o CT Breaking Brasil
no centro de Diadema, que fica na região do ABC Paulista, visando a preparação de b-girls e b-boys em nível profissional. O local também oferece aulas de iniciação para quem quer conhecer o breakdance .

O breaking é a primeira dança esportiva a fazer parte das Olimpíadas e foi oficializado como modalidade pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em dezembro de 2020. Muitas pessoas fazem um paralelo com o sucesso do skate nos Jogos de Tóquio, pois ambos sofrem preconceito por ter origem em uma expressão da cultura de rua.
Nos Jogos de Paris 2024, a competição de breaking será dividida entre as categorias feminina e masculina, com 16 b-girls e 16 b-boys se enfrentando em batalhas, usando uma combinação de movimentos de força, enquanto se adaptam e improvisam ao ritmo das músicas. O sistema de pontuação é dividido em três categorias: body (corpo), que engloba as características físicas e julga a técnica e a variedade de movimentos; mind (mente), que avalia as características artísticas e a criatividade de cada dançarino; e soul (alma), que considera os aspectos interpretativos e da performance dos atletas.
Mesmo com as suas ressalvas em relação às Olimpíadas, Keka acredita que isso vai abrir espaço para a nova geração da cultura hip hop . Mas de uma coisa ela não abre mão: para ela, nenhum centro de treinamento vai ser tão eficaz quanto a vivência na rua, de onde surgiu o breaking
“A gente aprende na rua. Metade das coisas que sei eu aprendi sobrevivendo e fazendo o corre hoje em dia para pagar o aluguel e o gás. O hip hop tem seus buracos, a gente tem que andar com cautela e ver quem está do nosso lado, mas com ele eu aprendi a sobreviver. Na escola, o professor chega ali, dá a matéria e você absorve o suficiente para passar de fase, vai lá e já era. O hip hop me ensinou a fé, mano. A acordar de manhã e viver do que eu amo”.


O grafite é uma forma de expressão artística utilizada majoritariamente em locais públicos, como muros, paredes de grandes edifícios etc. Os grafiteiros intervêm na cidade, aplicam sua linguagem com o objetivo principal de fazer uma crítica social, em diferentes contextos, tipos e estilos, que vão do simples rabisco ou de tags repetidas que funcionam como uma demarcação de território, até grandes murais em espaços reservados, ganhando status de verdadeiras obras de arte. Em Arte, grafite e o espaço urbano , as professoras de arte Lurdi Blauth e Andrea Christine Kauer Possa defendem que “cada grafiteiro expressa questões simbólicas em suas imagens ao grafitar um espaço, ao mesmo tempo em que são vinculadas às suas vivências e experiências pessoais. Embora sendo algo individual, também contempla aspectos relacionados ao coletivo, ao grupo e ao seu espaço de criação”.
TAG A tag é o nome do artista, em que é usada como assinatura.
A história do grafite começa entre o final da década de 1960 e o início da de 1970, nas cidades de Paris e Nova Iorque, onde foram vistas as primeiras expressões anônimas desse tipo de pintura. Nos EUA, foi nas periferias que surgiu o grafite, desenvolvido ao lado da cultura hip hop e do movimento Flower Power. Saindo dos muros de vizinhanças como o Bronx, o grafite tomou conta dos metrôs, levando a arte de protesto para vários lugares de Nova Iorque. “A notoriedade que os primeiros grafiteiros recebem da comunidade jovem e o registro e divulgação pela imprensa são indicados como fatores de multiplicação do tagging nos muros e trens de Nova Iorque, tornandose uma atividade competitiva e fazendo de autores ‘reis’ de linhas e de estações de metrô, eventualmente relacionada à disputa de territórios por gangues”, como explica a pósdoutora em literatura Julia Almeida no texto O recado controverso do grafite contemporâneo.

Em Paris, houve uma mobilização conhecida como Maio de 68, em que estudantes foram contra algumas políticas de instituições de ensino da cidade. Os sindicatos também se juntaram à reivindicação, em resposta a questão da educação e também de outros acontecimentos, já que aquele ano havia sido marcado por fatos impactantes mundialmente, como o assassinato de Martin Luther King Jr. nos EUA, o fortalecimento dos regimes militares na América Latina e a guerra no Vietnã. Nesse contexto, artistas deixavam seu descontentamento estampado nos muros da capital francesa anonimamente, marcando o início dessa forma de expressão.
A contracultura daquela época refletiu em solo brasileiro e impactou a música e o movimento tropicalista. A periferia de São Paulo também não demorou muito para acompanhar o ritmo das grandes metrópoles mundiais e começar a incorporar o grafite como uma forma de expressar artisticamente opiniões sobre os mais variados assuntos. Tendo mais força no início dos anos 1980, o grafite na capital paulista acabou virando polêmica, sendo considerado vandalismo e pichação. Vivíamos um período marcado pela censura provocada pela ditadura militar. De São Paulo, essa arte urbana se espalhou aos poucos para outros estados, e hoje grandes prédios e muros públicos do Brasil são painéis estampados com mensagens que traduzem nossas características enquanto sociedade.
E quando o assunto é a história das mulheres no grafite, mesmo buscando nas páginas mais específicas da internet, é difícil encontrar muitas informações, especialmente para montar uma linha do tempo que refaça a trajetória da atuação feminina na cena mundial até os dias de hoje. Mas entre as personagens históricas, uma pessoa se destaca em qualquer tipo de levantamento
sobre o assunto: a grafiteira Lady Pink. Sandra Fabara nasceu no Equador em 1964 e foi criada nos EUA, mais especificamente no distrito do Queens. Ela entrou para o grafite em 1979, enquanto tentava lidar com o luto, tagueando muros com o nome de seu namorado para suprir a saudade e a raiva que ela sentia por ele ter sido preso e deportado para Porto Rico. Pouco tempo depois, ela deixou o nome do namorado de lado e adotou a assinatura Lady Pink, se tornando uma das artistas mais ousadas. Pintava muros, vagões de metrô e criou a Ladies of the Arts (LOTA), a primeira crew de grafite formada só por mulheres.
O padrão que vemos pelo mundo é claro: onde existe muro, há a vontade de transformá-lo em arte. No Brasil, mulheres como Ananda Nahu, Mag Magrela, Rafa Mon, Pamela Castro, Criola, Tereza Dequinta e muitas outras estão há anos trabalhando essa vertente da cena artística. “As temáticas dos trabalhos das mulheres passaram, ao longo do tempo, a incluir frases e gestos alusivos ao feminismo, mostrando a resistência e resiliência das grafiteiras”, o que é destacado pela arquiteta Ana Luísa Silva Figueiredo na produção Mulheres no Graffiti: Perspectivas da Prática em Contexto Metropolitano.
As trajetórias são diferentes, mas o trabalho delas é um reflexo de suas personalidades, e, atualmente, são reconhecidas internacionalmente por grafites que retratam a alma feminina em diversas nuances. E ainda que o muro seja a origem de tudo, o grafite já não é mais uma arte exclusiva deles, pois está presente em galerias, museus, na arquitetura, como decoração, em festivais, na área da moda. E as mulheres que fazem parte desse movimento também se aventuram muito além das paredes.

Grafitar: verbo direto e intransitivo · transitivo direto e intransitivo executar grafites em; riscar, rabiscar, pichar. “g. muros”
O projeto idealizado por Aline Ribeiro que leva esse nome surgiu para fortalecer a presença feminina na arte urbana, um espaço que ainda é majoritariamente masculino. Ele foi criado em 2020, depois que Aline participou da revitalização de um local em Itapevi (SP) junto com o Women On Walls (WOW), uma plataforma que impulsiona a carreira de mulheres artistas por meio de capacitações gratuitas, com encontros com profissionais reconhecidas mundialmente, mentorias personalizadas, acompanhamento online etc. A iniciativa foi idealizada por Marina Bortoluzzi, publicitária, empreendedora, curadora e cofundadora do perfil Instagrafite, comunidade sobre arte urbana e pública fundada em 2011 e que conta com contribuições do mundo todo.
“O prefeito de Itapevi quis revitalizar uma avenida que chamamos de Corredor Oeste, e ele colocou o nome de West Side Gallery, que é maior do que o Beco do Batman, um espaço muito grande e todo pintado. A primeira etapa foi a Instagrafite que fez e a segunda foi o WOW. Na segunda etapa, eu conheci a Marina e ela me disse que precisava de mais meninas da cidade para participarem, mas eu falei que não tinham muitas artistas além de mim. Ela ficou passada”. Nisso, Aline indicou uma menina que fazia trabalhos de lettering em parede, chamada Walléria, que também convidou Leticia, que na época arriscava uns rabiscos. E as duas trabalham no Projeto Grafitar hoje em dia.
Técnica de desenhar letras com contornos, sombras e volumes, como se fossem formas ou símbolos, combinando diferentes estilos, tamanhos e cores.
Inspirada na East Side Gallery de Berlim, na Alemanha, a galeria urbana de Itapevi teve a fase I em 2019, com 3.784 m² pintados com grafites em diversos estilos de 18 artistas convidados. Em 2020, foi feita a fase II, com 17 artistas que trabalharam a temática do Poder Feminino em 1,2 mil m² do muro da CPTM. Agora em 2022, chegou a hora da fase III, com uma pintura total de 238 m² sobre o resgate histórico das mulheres na arte urbana, feita por cerca de 30 artistas. No total, Itapevi conta com 5.312 m² de grafite na cidade, tendo um dos maiores corredores da região metropolitana do estado de São Paulo e do Brasil.
Durante essa semana de pintura da fase II, Aline encontrou várias mulheres que já conheciam o trabalho dela e queriam aprender mais sobre o grafite. “A essa altura, eu já tinha escrito um projeto que eu apresentei para a prefeitura, mas que não deu certo. Eu queria muito fazer algo voltado para as mulheres. Nesse evento, algumas me procuraram para saber se eu dava aulas particulares e quanto eu cobrava, e eu falei: ‘Mano, eu vou fazer esse projeto’”. Aline já havia procurado várias formas de conseguir patrocínio, mas não teve sucesso em nenhuma delas. Só que decidiu iniciar o projeto mesmo assim. “Montei um perfil no Instagram e anunciei que estava fazendo uma oficina de grafite gratuita apenas para mulheres, e quem quisesse era só colar. Eu só não esperava que tantas pessoas fossem aparecer. Na primeira reunião, tinham 50 pessoas aqui de Itapevi”.
Apesar da grande procura, algumas delas desistiram por não conseguirem arcar com os custos dos materiais ou por esse interesse não passar de curiosidade. “O projeto é uma iniciativa independente e não possui recursos financeiros. Nós contamos com patrocínios e doações das empresas locais. E muitas desistiram por falta de recurso, porque essa é a maior dificuldade para o artista, principalmente aquele que está iniciando”. Hoje em dia, Aline acaba ganhando muito material, e às vezes também sobra dos trabalhos. “É raro eu comprar. Para mim já é tranquilo, porque eu já estou nessa área há um tempo. Agora, para quem está começando, uma latinha de tinta custa R$ 25,00 e a gente usa muito para fazer uma arte”.
Em Principais Desafios para a Mulher Artista do Graffiti, a pedagoga Deisy Daniela Santos Siqueira argumenta que, para a mulher artista, existem obstáculos relacionados ao ser mulher e outros que dizem respeito ao ser artista. Além disso, no caso de uma mulher que trabalha com o grafite, “é duplamente desafiador, [...] como um desafio triplo, pela desigualdade de gênero, fatores sociais patriarcais, pela desvalorização da arte e pelo ambiente hostil que é o cenário urbano”.
“Tem dias em que eu fico até meia-noite trabalhando e acordo cedo para escrever projetos e arrecadar recurso para facilitar um pouco a vida das minhas alunas. Eu não tive incentivo ou acesso a programas que me dissessem para não desistir porque as coisas dariam certo lá na frente. Eu me inscrevo em muitos editais, faço eventos e tento fornecer tintas para elas, já dei muita tinta minha, inclusive. Cara, se hoje o projeto não tem tinta, mas eu tenho, vamos compartilhar todo mundo junto. O objetivo é realmente incentivar, porque eu sei quando o terreno é fértil, então o projeto consiste em fortalecer mesmo o corre das minas”, desabafa Aline Ribeiro. Ela, que é mais conhecida como Tuka, seu apelido de
infância, está inserida no universo do grafite há 19 anos e vem deixando um legado para que outras mulheres possam entrar em cena também. “Depois que eu montei o projeto, nunca mais pintei com os meus amigos. Eu só fico com as meninas, porque não é só um grupo de mulheres, é uma terapia para nós. Quando a gente se une, tudo é acolhedor. Não ficamos assediando umas às outras, não gera desconforto”.
Quando o assunto é assédio moral, desde os “fiu-fiu” até os pitacos nas produções, Tuka coleciona inúmeros episódios desagradáveis. “A gente que é mulher precisa tomar muito cuidado ao sair para pintar. Já rolou abordagem policial, por exemplo, mas hoje em dia não está tão marginalizado. Existe um pouco mais de respeito, mas estamos aí para fazer a parada acontecer, lutamos para que isso acabe e não conseguimos evitar sempre. Tem comentários que não cabem mais, como: ‘Adorei o trabalho, nem parece que foi uma mulher que fez’. Mano, isso é muito machista, porque meio que estabelece uma qualidade que supostamente só os homens têm. A gente tem que reeducar, corrigir, falar e se impor para não deixar passar batido”.
Entre todos, um deles foi o que mais deixou marcas. Tuka e as mulheres do Projeto Grafitar vêm estampando pautas importantes em toda a cidade, participando de intervenções e aumentando a ocupação feminina na arte, com o intuito de fazer as pessoas pararem, olharem e refletirem sobre os desenhos, como um painel em homenagem às pessoas com deficiência auditiva e um mural sobre o Outubro Rosa, o que acabou dando mais visibilidade para as suas artes. Mas isso começou a incomodar alguns homens da região. Um deles até fez uma pichação em cima de um dos muros pintados pelo projeto por meio de um edital.
“Quando você começa a fazer as coisas, por mais lindo que seja, sempre vai ter alguém pra achar ruim ou te enfrentar e tentar arrumar treta. Eu já tinha uma treta com o cara que fez isso, mas a gente pintou em
cima do ‘pixo’ dele porque era um edital, foi uma determinação. Só que ele só atropelou nosso trabalho porque a gente é mulher. Do outro lado, os pichadores não se atropelam entre si, porque são machistas. Foi uma treta muito louca. Por causa deles, uma galera ficou com muito ódio da gente aqui”.
Pouco tempo depois, Tuka organizou uma ExpoFesta de 2 anos do Projeto Grafitar e alguns amigos do rapaz que tinha atrapalhado o trabalho delas apareceu no evento. Ela estranhou e ficou receosa, mas, para surpresa de todos, eles foram parabenizar as meninas e convidá-las para uma ação de Dia das Crianças. “Começaram a enxergar o nosso corre e perceberam que a gente não tava apagando as pichações, e sim fazendo uma parada cultural também. Não somos iguais ao governo, que vai lá e pinta de cinza. Eu falei que se eu fosse escolher, ia passar reto pelo ‘pixo’ deles, ou ensinar eles a fazer direito”. Aqui, ela se refere ao Dória, então prefeito de São Paulo, quando mandou “limpar” os muros da Av. 23 de Maio.
Para Tuka, a melhor maneira de reverter esse cenário é continuar persistindo para reivindicar o espaço das mulheres no grafite. “As coisas estão começando a mudar de figura agora. Estamos ganhando o respeito deles, porque a gente mostrou que nada vai parar ‘nóis’, muito menos um atropelo. Queremos mostrar para eles que vamos dominar tudo e que é melhor eles aceitarem que dói menos. Nós estamos nos unindo com outras mulheres porque eu comecei a ver a importância de abranger os quatro elementos do hip hop para ir só as minas na parada. Homem que apoia tudo bem, mas quem não apoia, marcha. Existe esse espaço e é nosso por direito. As meninas merecem pintar. O que é um muro para quem tem um monte de rolê? Eu não tô nem aí se apagaram um muro ou uma parede minha, ou mesmo 10. Não faz diferença. Eu tenho o meu rolê e pinto em todo canto, então você pode atropelar um monte de peças minhas, mas todas não tem como. É assim que você
faz seu nome: indo nos lugares e pintando. Tem muitas outras formas de negociar uma parada, e não é impondo nada, nem tentando me oprimir. Enfim, não passarão”.
Outra situação mencionada por Tuka é a falta de representatividade nos eventos. Ela participou de um que contava com 28 homens, enquanto só tinham ela e mais uma mulher no total. “Eu questionei mesmo, falei que estava errado porque não cola mais não ter mulher. Mas sempre surge uma desculpa do tipo ‘ai, não tem disponibilidade’. Às vezes nem é por maldade. Eles têm tanto o costume de fazer os eventos e chamar os ‘parças’ com quem saem direto e não chamam as meninas, nem cogitam. A gente tem que estar aqui para lembrar disso. Só que quando você convida um bolão de homens, está tirando a oportunidade das mulheres, justamente por isso fazemos um projeto voltado para elas”.
Muitas pessoas tentam desqualificar o feminismo, questionando a razão de se ter esse movimento. De acordo com a historiadora, advogada e cientista política Branca Moreira Alves e a socióloga Jacqueline Pitanguy no livro O que é feminismo, esse termo traduz um processo de busca das mulheres para recriar as relações sob uma perspectiva onde o feminino não seja desvalorizado. Ou seja, as mulheres continuam lutando para terem direitos, autonomia, serem tratadas com respeito e dignidade. E no hip hop não é diferente: a luta é para garantir que todas estejam plenamente inseridas, sem sofrer preconceito ou discriminação em função de ser mulher. Buscam o mínimo, coisas que nem deveriam ser motivo de disputa. “É como se a gente estivesse tirando os direitos dele, como se ele já não tivesse o suficiente. Um dos motivos do projeto ser só para mulheres é para mostrar que muitas minas também pintam. É o grito de ‘estamos aqui’. Eles estão em tudo, são privilegiados. Eu acho o cúmulo a gente ainda precisar explicar para eles o porquê de fazermos essas coisas. Estamos sempre reivindicando
nosso espaço e fazendo um bom trabalho”. Além de ser um ponto de desenvolvimento para a carreira de artista, o Projeto Grafitar funciona como um espaço de acolhimento para as mulheres dessa área. “Eu já participei de oficinas em que as meninas choraram por conta de problemas pessoas, então é como um abraço. Eu sentia muita falta disso: mulheres na rua. Quando eu saía para pintar, parecia um fenômeno. ‘Nossa, uma mulher’. Gente, qual o problema de uma mulher estar pintando?”. Por conta disso, Tuka deseja continuar oferecendo as aulas de maneira gratuita. “No que depender de mim, as oficinas sempre vão ser de graça, porque eu realmente queria que fosse um trabalho social. Não faz muito sentido eu cobrar, até porque já fomos muito prejudicadas por esse governo, que afetou demais o setor cultural. Mas ganho dinheiro de outras formas”.
Extinção do Ministério da Cultura, crises envolvendo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), alterações na Lei Rouanet, abandono da Cinemateca e vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc foram alguns dos impactos da gestão do presidente Jair Bolsonaro na cultura nos últimos quatro anos. Desde a campanha presidencial, Bolsonaro apontava a Lei Rouanet como um dos problemas centrais do setor cultural brasileiro, o que fez com que de 2019 para cá, a legislação fosse enfraquecida e desconfigurada de várias formas. “Foi um pouco difícil, mas consegui passar na Lei Aldir Blanc e na Lei Rouanet, então estamos no processo de captação de recurso. Eu não penso pequeno. Quero mais, porque tenho planos de fazer uma oficina de grafite na qual eu possa mostrar um vídeo para as minhas alunas, na qual elas tenham uma mesa para desenhar e praticar, onde elas tenham espaço para pintar uma tela”.
Uma instrução normativa de fevereiro de 2022 cortou os cachês de artistas em 90%
projeto
mais
dois anos seguidos. Além disso, os valores de captação de recursos caíram de 60 milhões para 500 mil reais.
Fonte: Diário Oficial da União
As leis de incentivo à cultura são mecanismos de apoio para artistas, que desenvolvem propostas culturais visando facilitar e garantir o acesso da sociedade às fontes de cultura, e recebem um valor para colocarem-nas em prática, de acordo com as características de cada edital e a partir das normas das leis que disponibilizam o montante financeiro. Entre as citadas por Tuka, a Rouanet é a mais famosa.
Ela foi criada em 1991 e funciona a partir de três agentes: do artista, que apresenta um projeto ligado à cultura; de uma empresa privada, que utiliza os valores que seriam destinados ao Imposto de Renda para investir nesse projeto; e do Governo, que abre mão de receber esse tributo. Ou seja, o Estado deixa de intermediar o envio desse dinheiro para cultura, uma vez que a empresa privada direciona o valor do imposto diretamente para um projeto cultural ao invés de pagar para o Governo. Além de ter contribuído para a profissionalização do mercado nacional de cultura, a Lei Rouanet também trouxe resultados para a economia brasileira. De acordo com um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, entre 1993 e 2018, ela gerou R$ 49,8 bilhões, fazendo com que a cada R$ 1 investido, R$ 1,59 retornasse para a sociedade.
Já a segunda mencionada é a Lei Aldir Blanc, que leva o nome do músico falecido em decorrência da contaminação por Covid-19. A primeira versão surgiu em 2020, como uma solução emergencial para a cultura, um dos primeiros setores a fechar as portas durante a pandemia, prevendo a entrega de 3 bilhões de reais para estados e municípios aplicarem em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, como na realização de cursos e editais. Com isso, trabalhadores tiveram direito a três parcelas de R$ 600,00 e espaços artísticos que precisaram interromper as atividades receberam subsídios mensais entre R$ 3.000,000 e R$ 10.000,00. Mas o que começou como uma saída para tentar amenizar os efeitos da pandemia, acabou se tornando um projeto de longo prazo. Em julho de 2022, a Lei Aldir Blanc 2 foi sancionada, prevendo repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados e municípios por cinco anos, começando em 2023.
Outro projeto que buscou amenizar os prejuízos econômicos e sociais causados pela pandemia foi a Lei Paulo Gustavo, nomeada em homenagem ao humorista que morreu de Covid-19. Ela visa repassar 3,862 bilhões de reais vindos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), responsável pela
e passou a impedir que patrocinadores invistam no mesmo
por
de
Um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de 2021 mostrou que o número de trabalhadores do setor cultural caiu 11,2% no Brasil em 2020. Além disso, devido a pandemia da Covid-19, mais de 600 mil vagas foram fechadas durante esse período, com os investimentos federais sendo os menores em 12 anos.
promoção cultural do país, para atividades e produtos culturais. Da verba, 2,79 bilhões de reais seriam voltados à área audiovisual, enquanto 1,06 bilhão de reais iriam para ações emergenciais. Ambas passaram a valer em julho desse ano, depois que o Congresso Nacional derrubou os vetos de Jair Bolsonaro, frente aos adiamentos da votação e pressão da classe artística pela aprovação dos auxílios ao setor cultural.
Mesmo com esses contratempos em relação à cultura no Brasil, Tuka continua cheia de sonhos para o Projeto Grafitar. “Quero colocar essas minas no mercado artístico para que elas trabalhem e ganhem a vida com isso. Eu tento mostrar para elas as vendas das minhas exposições e das outras coisas que eu participo. Eu sou muito profissional, porque uma coisa é estar pintando na rua e tomando uma cerveja, outra é precisar pagar minhas contas e vender minha arte, além das outras correrias. Eu preciso ter ética para cumprir os meus compromissos, porque, para mim, grafite é profissão. Eu sou uma grafiteira, uma artista. É isso que eu faço e acabou. Eu quero que elas olhem para mim e se inspirem, porque acho que falta muito isso da profissionalização do grafite”. É possível viver do grafite, mas infelizmente não é fácil, principalmente devido à desvalorização desse tipo de trabalho, ainda mais quando se trata das mulheres.
Além das dificuldades de tornar profissional as atividades como artista, as mulheres ainda precisam lidar com a desigualdade no mercado de trabalho. Dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia de 2021 mostram que existe uma diferença salarial de 20% entre pessoas do gênero feminino e masculino, comparando o mesmo perfil de escolaridade e idade, e a mesma categoria de ocupação. “Se você está em um evento e troca ideia com um cara sobre como eles
vendem a arte e participam das coisas, é muito mais fácil. Mas você não é chamada para nada, não participa, não é vista. Então é preciso levar a coisa a sério, mas se divertir também. Sendo mulher, você tem que se esforçar um milhão de vezes a mais para ser reconhecida”, reforça Tuka.
“Artistas mulheres têm que se provar mais e tem menos visibilidade, sem falar nas dificuldades que aquelas que se tornam mães podem ter. O problema está relacionado também à sub-representação em cargos de liderança, acordos de trabalho informal, conflitos de trabalho/família, práticas discriminatórias de contratação e preconceito. Tudo começa com mais visibilidade e oportunidade para mulheres nas artes”.
– Women On WallsDesde que o Projeto Grafitar foi criado, as mulheres que participam das oficinas já realizaram vários murais em Itapevi (SP) e região, para ações sociais, eventos, festivais e feiras. Entre eles, pode-se destacar a revitalização do espaço da Comunidade da Vilinha, em Itapevi, em conjunto com atividades para as crianças, como oficinas de desenho; as pinturas no Recanto Rede Salesiana Brasil, uma instituição voltada para crianças; na entrada de Itapevi e em Vargem Grande Paulista com o tema Natureza; no Resolve Fácil de Itapevi, um espaço em que os cidadãos podem utilizar serviços da prefeitura, Procon, Sabesp, dentre outros, em homenagem ao Dia das Mães; na Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab); e em escolas públicas de Barueri.
Em abril de 2021, foi feito o Primeiro Festival Projeto Grafitar, com inscrições abertas para mulheres de SP e outros estados, totalizando 20 artistas entre alunas e convidadas. Já em julho de 2021, aconteceu o Segundo Festival, com o tema “Universo Feminino”. “Tem sido muito gratificante ver a evolução das alunas e a aceitação e carinho dos moradores da cidade. Elas estão espalhando cada vez mais a arte delas em diferentes espaços”. “Desde o começo sabíamos que daria certo. Lideranças femininas com perfis de agente de mudança tem como potencial inspirar outras iniciativas, além de promover a luta pelos direitos das mulheres. Sabíamos que seria um coletivo de apoio para essas artistas, e que, consequentemente, impulsionariam o desejo de outras mulheres participarem. A representatividade feminina na arte urbana tem muita potência”. Com o empoderamento da mulher como missão, os muros viram ferramentas de protesto sobre temas como violência doméstica, feminismo, padrões de beleza, resistência e espiritualidade. É o grito que ecoa por meio das cores e da expressão artística e que faz com que essas mulheres encontrem uma forma de reivindicar seus direitos e mostrar seus medos, paixões e vontades.
E para todos esses trabalhos, a orientação é a mesma: “Eu falo para elas o seguinte: começar pelo básico, pelo simples, com poucas cores e com poucos traços, uma coisa mais fácil de fazer. Até o momento que você aprende a manusear o spray, ter uma habilidade com ele e saber todas as técnicas. Dá para fazer com 3 cores, com 15, com 50. Vai do artista e, geralmente, é tudo muito intuitivo. Às vezes, você só tem aquelas cores ali, então você vai ter que saber trabalhar com elas. Eu gosto muito
disso também, de trabalhar com o freestyle, de você criar ali uma obra naquele momento e saber usar o material que você tem. Mas é importante também fazer uns projetos e já ir com algo pensado, principalmente se for um trabalho remunerado ou um evento, por exemplo”. O que ela passa para as alunas do Projeto Grafitar é que “saber trabalhar com o que você tem é mais importante do que não fazer”.
Tuka e as demais organizadoras do Projeto Grafitar, Lelê, Mari e Wall, também vem marcando presença em iniciativas importantes. Em julho de 2022, elas participaram de uma programação do Sesc Bauru, com um bate-papo sobre o coletivo e um curso de grafite para mulheres. Estiveram em um evento na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha em agosto e fizeram uma palestra na Câmara Municipal da cidade sobre o projeto e sua relação com campanhas voltadas para mulheres em difusão da arte urbana no mês de outubro. “A nossa missão é agregar no currículo e na carreira de artistas mulheres, além de ser um movimento de embelezamento da cidade, trazendo para o cotidiano das pessoas uma galeria a céu aberto e revitalizando ambientes com muita cor. Queremos capacitar e inserir as mulheres no mercado da arte, para que possam trabalhar com o que amam, vivendo exclusivamente disso, sendo remuneradas e valorizadas na sua profissão”.
*
Tuka estudou em escola pública e, quando criança, fez algumas excursões para o Memorial da América Latina. Ela sempre gostou muito de arte e em uma das exposições em que a sua turma visitou, Tuka ficou maravilhada, sonhando em ser
artista. Até então, ela não tinha cogitado essa possibilidade, pois nunca teve muito incentivo dos professores ou dos pais para desenvolver suas habilidades de desenho. Mas, nesse dia, ela olhou as obras e pensou “será que eu posso estar aqui também um dia?”. Esse ano, Tuka foi uma das 60 artistas presentes na 5ª Bienal Internacional Graffiti Fine Art, que aconteceu entre os meses de julho e agosto no Memorial da América Latina, em São Paulo. Enfim o pensamento que ela teve quando pequena estava se realizando.
A exposição trouxe diversas técnicas e estilos da arte de rua contemporânea para a Galeria Marta Traba, com a curadoria de Binho Ribeiro, um dos pioneiros da área no Brasil e criador da Graffiti Fine Art. “Essas duas telas na Bienal abriram muitas portas para entrar no mercado da arte. Porque o mercado é amplo, tem várias coisas para se fazer, e eu não pensava em vender as minhas obras. Então, com o meu trabalho comercial eu conseguia me manter, mas não tinha isso no meu currículo, na minha cabeça, no meu portfólio, e agora eu tenho. E acredito que eu tenha encontrado aí mais um caminho. Gostei muito de pintar telas e estou trabalhando em algumas coisas no momento. Em breve quero fazer uma exposição individual e também participar de outras coletivas”.
Além da experiência de expor seu trabalho, que era um sonho, Tuka também ficou entusiasmada com o engajamento do público. “Foi muito enriquecedor e gratificante. Eu lembro que no penúltimo dia da Bienal eu fui fazer um ensaio lá e estava muito cheio, mesmo já sendo o final da exposição. Então eu acredito ter alcançado aí um público de pessoas que me viram. Eu não esperava isso, e é muito importante para nós artistas que estamos
começando a participar das coisas ganhar esse reconhecimento. É essencial”.
Mesmo fora das exposições, o carinho das pessoas já fazia parte do dia a dia de Tuka. Vira e mexe ela recebe mensagens pelas redes sociais lhe parabenizando pelo seu trabalho, ou até mesmo chegam fotos de moradores posando com as suas obras. “Eu gosto de conversar com elas, gosto dessa parte. Quando a pessoa reconhece, é um momento que você olha e vê que está dando certo, está funcionando, e é um incentivo para pintar mais, pois você sabe que tem pessoas que gostam. Porque já rolou também a insegurança. O artista é muito inseguro. A minha autoestima como artista não é das melhores, eu estou sempre tentando buscar coisas e inspirações justamente por isso. Eu fazer um trabalho e gostar é muito raro, por causa da cobrança que eu tenho comigo”.
Ela define seu estilo de grafite como diferente de tudo que é visto nos muros das cidades. Seus desenhos são voltados para o lúdico, mas baseados em figuras femininas que representam força e resistência, como a Frida Kahlo, por exemplo. “Eu tenho minhas grandes referências de vida, que foram minha mãe, minha vó e minhas tias. Então, tudo que eu faço é voltado para elas ou pensando nelas”. Suas personagens são retratadas em várias temáticas, com muitas cores, elementos infantis e alegria. “Eu que sou periférica, a gente já vê muita coisa triste na rua, então acho ‘da hora’ trazer essa sensação de você olhar e sentir um pouco de paz, do mundo imaginário e parar para prestar atenção. É mágico isso”.
Tuka fazia muito de chegar no local onde ia grafitar para conhecer o muro e as condições e só depois pensar no desenho, técnica conhecida como freestyle. Mas hoje
em dia prefere projetar alguns desenhos antes, praticar em casa e então partir para o trabalho oficial. “Eu estava até conversando com uma amiga de que eu não estava conseguindo mais chegar e fazer direto, estava tendo esse bloqueio. E meus processos criativos são baseados em releituras, eu gosto muito disso. Já criei uma identidade, e é muito difícil a gente ter uma identidade própria. A minha é totalmente diferente de tudo, então eu gosto muito disso, de ser algo diferente de tudo, mas que seja bonito, com qualidade”. Outra experiência que Tuka leva consigo é a participação em festivais internacionais. O primeiro foi o Nosotras Estamos en la Calle 2022, uma iniciativa que integra as atividades do Dia Internacional da Mulher em Lima, no Peru, para celebrar a força feminina e incentivar o intercâmbio e o encontro de artistas. “Quando eu recebi o e-mail, nem acreditei. Eu comecei a pesquisar a cultura de lá, me perguntando como eu ia, como seria me virar sem falar espanhol. Mas foi muito bom, porque eu pude ir com uma amiga que também foi selecionada, a Mari, que trabalha comigo no Projeto Grafitar. Eu fiquei mega feliz porque a gente foi representar as meninas e também levar o nosso trabalho”. E ela voltou da viagem com várias ideias para as oficinas que ministra no Brasil. “Teve um dia que eu terminei antes e fiquei sentada, porque eu gosto muito de aprender olhando. Então eu fui pegando algumas técnicas e saí muito rica em conhecimento”.
Já o segundo foi no Festival Internacional de Grafite Feminino do México, chamado Juntas Hacemos Más. Ele aconteceu entre abril e maio de 2022 e reuniu mais de 90 artistas de diferentes países para mostrarem seus estilos e identidades na
arte urbana. O evento apoia a união entre mulheres de todos os lugares do mundo, reunindo talentos para deixarem seus trabalhos nas paredes e muros das fábricas do distrito de Venustiano Carranza, na Cidade do México. “É uma coisa que ao mesmo tempo que a gente busca enquanto artista, você também não espera que vai acontecer. É uma parada muito louca. Mas conhecer outra cultura é essencial para todo artista, e estar em contato com tanta mulher foda me deu muita força para continuar o meu corre no grafite”.
E esse corre começou cedo. Tuka sempre gostou de pintar e se destacava nas aulas de educação artística na escola. Seu primeiro contato foi com a pichação, que até hoje ainda é muito confundida com o grafite, mas tinha medo da sua mãe descobrir. Depois de um tempo, conheceu alguns pichadores e começou a namorar um deles. Nessa época, ela tinha 14 anos e começou a aprender um pouco sobre grafite com ele, que pintava e grafitava. “Há 17 anos, eu via alguns grafites em Itapevi, mas era pouco”.
A virada de chave na sua vida foi conhecer o trabalho de Nina Pandolfo, considerada pioneira na arte de rua, uma das primeiras grafiteiras a se consagrar fora do Brasil. O seu estilo é marcado por traços delicados e femininos que remetem à infância e à natureza. “Fiquei encantada quando me deparei com a arte da Nina. Pensei: ‘Eu quero ser igual a ela, quero grafitar, é isso que eu quero para a minha vida’. Lembro que no começo foi bem difícil, porque eu pintava com pincel e a minha vontade de aprender era tanta que isso até me bloqueava às vezes”.
A principal característica da pichação é a escrita. Já no grafite, é possível ver mais imagens, desenhos e formas. Em São Paulo, a pichação é conhecida como “pixo”, sendo ele a assinatura do apelido do grafiteiro, o nome de um grupo ou um alfabeto (tipografia). Hoje em dia, o grafite é reconhecido como arte pela sociedade, enquanto a pichação ainda é vista como vandalismo ou poluição visual.
Em 2003, Tuka ia para os muros e pintava com pincel o dia inteiro. Já em 2005, começou a usar mais o spray, pois percebeu que às vezes as pessoas não tinham paciência de esperar ela terminar o trabalho, que era um pouco mais demorado com o pincel. “O spray de antes era totalmente diferente dos de hoje. Ele parecia água com cor, você apertava e ele escorria, além do cheiro horroroso. Enfim, o começo dos aerossóis”. Começaram a aparecer mais artes urbanas no cotidiano de Tuka e ela foi se interessando mais por esse estilo. Juntava dinheiro para comprar as latas e usava pincel apenas para os detalhes. Ficou com esse namorado por 5 anos e quando terminaram, Tuka continuou grafitando. Mas começou a sentir na pele como o machismo afetaria a sua carreira: ninguém mais a chamava para pintar e a cortaram dos eventos de grafite. “Na época, tive alguns conflitos e senti muita diferença por estar sozinha. Eu sou a primeira grafiteira aqui de Itapevi, não tinha mais ninguém”. Um dos amigos do seu ex foi a única pessoa que chamava Tuka para os rolês e a incentivava a continuar.

Tuka também trabalhou na prefeitura de Itapevi em 2006, lecionando em uma Oficina de Grafite, mas a iniciativa não deu certo por falta de recursos. “A dificuldade maior do artista sempre foi o material, o custo é muito alto. A gente não conseguiu desenvolver, tivemos que encerrar as atividades. Mas foi onde eu mais tive contato, porque quando a gente ensina a gente também aprende. Eu ensinava lá e aprendia muito”.
Nesse meio tempo, a mãe dela faleceu e, juntando com tudo que vinha acontecendo, Tuka ficou muito desmotivada. Não tinha mais ânimo de sair para pintar. Mas estava fazendo faculdade e precisava trabalhar para pagar a mensalidade. Começou na área administrativa e fazia do grafite um hobby. Paralelo a isso, conheceu um outro rapaz e teve a sua filha, a Lara. Foi voltando para o grafite aos poucos, mas pintava com menos frequência.
“O pai da minha filha não pinta. Ele me incentivava, mas é diferente de quando eu namorava com outro artista, porque todo dia a gente saía para pintar, realmente respirávamos o grafite. Fiquei um bom tempo sem pintar na rua, produzia mais em casa, com telas”. Depois, como estudava licenciatura em Artes Visuais, pegou algumas aulas em escolas públicas e particulares. A partir daí, Tuka montou o Projeto Grafitar e se conectou cada vez mais ao universo da arte urbana.
“Ano passado, quando saí da escola em que eu trabalhava, o pessoal ficou muito triste e me disse que lá estaria de portas abertas porque quando as coisas melhorassem com a retomada pós pandemia, iria me recontratar, mas eu disse que não podia mais voltar. Eu coloquei na minha cabeça que eu sou artista e essa é a minha profissão. Eu somei as duas coisas: toco projetos e dou aula, mas leciono aquilo que sei fazer de melhor, que é o grafite. É disso que eu vou viver”.
Para Tuka, o ensino na sala de aula tem as suas diferenças quando comparado às oficinas do Projeto Grafitar. “Ensinar grafite é mais divertido, é mais descontraído. Na escola, a gente ensina basicamente o que está na apostila, o que a escola pede. Mas eu gostava muito de ensinar lá também. E é um contato mais profissional, digamos assim. Porque ali na rua, a gente faz vaquinha para comer pão com mortadela, ‘pão e tinta’, como a gente sempre fala. Eu acho que as vivências da rua são o que fazem o grafite mais ‘da hora’. Tipo, sentar, trocar ideia sobre tudo e tomar uma breja. É um espaço muito acolhedor também, embora seja na rua. É muito boa essa vivência, mas é totalmente diferente da escola”.
E apesar de ter saído oficialmente do ambiente escolar, está sempre por perto fazendo algumas artes para colorir o dia a dia dos alunos. “Eu gosto muito de pintar em escola e eu acho isso muito importante, que as escolas tenham grafite, porque foi lá que eu vi a primeira vez e lembro de ter ficado encantada com as artes. E eu vi uma menina pintando também, então eu acho que é muito importante a gente ter representatividade para que as outras meninas se inspirem e enxerguem o grafite como uma profissão para a mulher”. Antes de se tornar artista, quando Tuka via grafites na rua, não imaginava que poderiam ter sido feitos por mulheres.
Ao longo da sua caminhada, além de licenciatura em Artes Visuais, Tuka também estudou Desenho Industrial (Design) e Produção Cultural. “Eu comecei a estudar outras coisas, como produção cultural, para tentar desenvolver alguns projetos em editais. E aí eu vi também uma alternativa, tanto de ajudar as minhas alunas em eventos, poder fornecer alguma estrutura para elas, mas também tirar uma fonte de renda para mim, para conseguir elaborar projetos. E aí é uma alternativa, não é a minha maior fonte de renda, eu vendo mais arte, mas também ajuda”.
Atualmente, é artista, grafiteira, arte educadora, orientadora em projetos sociais e produtora cultural. Fazer do hobby uma profissão é privilégio para poucos, mas ela conseguiu. “Muitos dizem que transformar um hobby em profissão faz perder a essência daquilo, mas sabe o que perde a essência para mim? Ter que trabalhar oito horas por dia com outra coisa e ter apenas os domingos para pintar. Para mim, a essência não se perde porque se eu quiser pintar amanhã ou em uma segunda-feira, ao meio-dia, eu posso, porque é o que eu faço, e nada melhor do que ganhar dinheiro com isso”.
“É muito difícil ser artista e trabalhar em outra área. Não dá para ser hobby , porque eu não consigo me dividir. A gente que é mulher não tem o privilégio de pegar a mochila com tinta e ir pintar. Eu preciso saber com quem a minha filha vai ficar, como ela vai ficar, como vai se alimentar. Tem todo esse rolê antes”. Tuka acredita que esse tipo de discurso vindo de pessoas do próprio meio reforça a ideia do grafite como mero lifestyle . “É cansativo, é um trabalho muito árduo. Subir e descer escada, pegar tinta, látex de 18 litros. É um trabalho braçal e também um processo criativo que precisa de foco. A gente sai de casa, paga passagem e às vezes gasta na rua para comer”.
Recentemente, ela conseguiu comprar um carro para ajudar na locomoção com os equipamentos para realizar seus trabalhos e compartilhou com as alunas do Projeto Grafitar, como uma inspiração de que o grafite pode ser a principal fonte de renda delas. “Elas viram o meu progresso. Carro não é nem luxo, e sim uma necessidade. Eu andava com aquelas sacolas grandes, cheias de tinta, uma escada com extensor e dois cabos de vassoura, um monte de coisas. Quero que elas vejam que, além da evolução profissional, também teve uma evolução financeira. E eu penso em conquistar outras coisas. Falo que antes de comprar um carro ninguém me segurava, mas agora que eu tenho um ninguém me segura mesmo”.
“Quando eu fundei o Projeto Grafitar foi o ápice da minha carreira. Quando eu fui pro Peru foi o ápice da minha carreira. Quando eu pintei no México foi o ápice da minha carreira. Quando eu consegui comprar meu carro foi o ápice da minha carreira. Quando eu expus na Bienal foi o ápice da minha carreira. E eu mal posso esperar para viver os próximos ápices da minha carreira”, termina Tuka, com brilho nos olhos.

“Moro em Diadema. Frequento a Casa do Hip Hop desde os 17 anos”, conta Pamela Monte. Com as mãos para trás, cabelos caídos sobre os ombros e roupas largas, a grafiteira projeta a voz para se sobrepor ao som do palco montado no fim da rua. Ao redor, a celebração do vigésimo terceiro aniversário da Casa do Hip Hop agita o bairro Canhema em um encontro entre os quatro elementos da cena.
No domingo nublado de agosto, alguns grafiteiros se reuniram para pintar as paredes internas que limitam o pátio a céu aberto no meio da Casa. Entre eles está Pamela: concentrada, presa no próprio mundo e rodeada por latas. Nada parece chegar até ela, mas ainda assim sua atenção se desvia quando é abordada, a postos para falar sobre arte com um sorriso no rosto.
“Eu tenho uma sequência de pinturas que assino como ‘ser mulher é mó treta’, porque só quem é mulher sabe tudo que precisa enfrentar no dia a dia, ainda mais em meios dominados pelos homens”, diz, incisiva. Ela transita pelo evento majoritariamente em silêncio, mas o brilho no olhar é nítido quando se depara com o grafite que estampa as paredes da Casa. A produtora de conteúdo não vive da arte, e sim por ela.
*
Pamela perdeu a mãe aos quatro anos e foi criada pelos avós paternos. De acordo com ela, apesar da boa convivência familiar, se expressar emocionalmente não era fácil em casa. “Naquela época foi tipo: ‘ok, você perdeu sua mãe, mas segue o baile’. Ninguém quer perder a mãe, mas não seria o maior problema da minha vida. Foi o que me ensinaram. Meu pai sempre foi meio maloqueiro, então desde cedo eu sabia trocar pneu e fazer coisas de ‘filhão’. Dentro de casa eu era muito livre para ser quem eu quisesse, mas acho que foi na rua quando me descobri potente na cena artística e que reconheci que era a minha hora”, explica.
Do outro lado da chamada de vídeo, Pamela se destaca diante da parede branca com roupas sóbrias e cabelos que formam um penteado casual. Falar de arte na rua é um terreno confortável, e ela sublinha que o fato de ter uma avó artista a ajudou a não reprimir a paixão que nasceu aflorada dentro dela. “O grafite sempre foi muito natural para mim”, conta. “Gosto de arte desde que me entendo por gente. Desenhar, em especial onde não pode, é o mais gostoso para mim”, pontua com um sorriso de canto de boca.
Pamela teve contato desde cedo com a origem transgressora do hip hop, em especial no ramo do grafite. “Quando você é criança, normalmente desenha no caderninho. Se você desenha na parede, recebe uma bronca, porque é errado”, exemplifica. Suas mãos dançam conforme ela fala, enérgica. O dia do lado de fora já se foi, mas o apreço pela arte não descansa nas entrelinhas de Pamela. “Em casa, eu era livre e podia desenhar na parede à vontade, fazer colagem e
todo esse tipo de coisa. Quando eu me deparei com o grafite e a pichação, definitivamente me encontrei. Falei: ‘Agora posso fazer na rua o que faço em casa’”.
A grafiteira começou a pintar os muros de fato aos 15 anos. Ela tenta encontrar palavras que consigam definir o sentimento de estar com a lata de spray na mão, e após um momento de reflexão, a resposta vem categórica: “É tesão”, ri. “É uma delícia, nossa. Eu não me apego muito se aquela arte vai durar, mas gosto quando impacta alguém e as pessoas questionam. Antes da pandemia, uns três anos atrás, eu pintei uma frase do Raul Seixas: ‘Não existe Deus senão o homem’. Essa arte ficou na rua por exatamente seis horas, porque a galera apagou. Aquilo chocou tanto que as pessoas não queriam ler mais. Eu pensei: ‘Nossa, funcionou’. Gosto quando minha arte incomoda ao ponto de quererem mudar alguma coisa nela”.
Voltando um pouco no tempo, ela relembra como o grafite fez com que sua visão de mundo e a visão sobre si mesma se expandissem. “Ele proporcionou um salto na minha autoestima”, define. “Eu tô com 31 anos hoje, mas, desde cedo, na época da escola, sempre andei muito com os meninos, me identificava mais com a companhia dos moleques do que das meninas. Na minha transição de criança para adolescente, quando tem toda aquela coisa do primeiro beijo e tal, eu não me relacionava com os meninos porque era amiga deles”.
Além disso, Pamela destaca que nunca se sentiu atraída pelos estereótipos de feminilidade exigidos, o que só reforçou algumas inseguranças e construiu muros entre ela e o pleno conforto consigo mesma. “Eu tinha um corpo magricela, não me importava muito com a minha postura e sempre fui muito ‘masculina’. Quando me confirmei enquanto mulher hétero, veio o lance da autoestima. Eu não era feminina como as outras meninas, não falava como elas, não fazia sucesso nas baladinhas e não me vestia como elas. Teve um momento no meu período de juventude de querer me montar e ser vista como as meninas, mas se eu abrisse a boca, esse ideal de feminilidade ia embora”, relembra. Não há dor ou incômodo na voz, mas fica claro pela forma como os olhos dela vagam para além da câmera que reviver essas memórias ainda provoca algumas feridas.
“Quando descobri a pichação e o grafite, eu percebi que sou muito mais do que a minha cara, sabe?”, o sorriso retorna, despreocupado. “Comecei a me relacionar e ter namoradinhos muito mais pelo que eu produzia do que pela minha estética em si. Acho que o grafite me ajudou nesse lance de entender que a autoestima vai além da nossa cara. Claro que é muito importante se olhar no espelho e gostar do
que vê, mas hoje eu entendo que a autoestima é sobre muitas outras coisas”.
Pamela explica que não leva o grafite como uma profissão, e sim como um hobby. Para ela, profissionalizar a prática tira o sentido de fazêla. “Eu trabalho com produção de conteúdo, pois não consigo ganhar dinheiro com isso. Mesmo se eu pudesse, não escolheria viver do grafite, porque viraria algo comercial”, explica. Do ponto de vista dela, o grafite funciona como um calo no pé daqueles que classificam essa manifestação artística como criminosa.
“Eu acho que o grafite traz um posicionamento muito forte de questionar a propriedade privada, o que é muito doido. Porque assim, as pessoas a tratam como se fosse a maior coisa do mundo. O que menos pode ser deteriorado é ela. Se fala de propriedade privada como se fosse um ser vivo”, esclarece. Pamela ajeita a postura conforme constrói uma linha de raciocínio pautada especialmente no modo como uma simples lata de spray pode desencadear uma série de questionamentos relevantes.
“O grafite, a arte urbana e as performances de rua dos artistas vêm justamente para questionar tudo isso. A rua é de todo mundo, né? Até que ponto a propriedade privada é de alguém? Porque eu acredito que toda propriedade seja um roubo. A gente não chegou aqui e distribuíram um lote com o nome de cada um. A gente foi tomando, se apossando dos lugares”, pontua.
No artigo Grafite: da marginalidade às galerias de arte, professor de artes Geraldo Honorato trabalha os sentidos do grafite e da pichação. Ele acredita que “o senso comum faz a distinção entre as duas manifestações por perceberem elementos gráficos diferentes com expressões específicas. Na forma de realização, o grafite se difere da pichação por ter como objetivo um resultado mais elaborado e preocupado com questões técnicas e compositivas, já a pichação se apresenta como uma ação mais rápida, gestual, desprovida da intenção de elaborações artísticas. Mas, o que caracteriza as duas ações é a manifestação no espaço público; quer ele seja autorizado ou não”.
É válido lembrar que o art. 65 da lei 9.605/98 tratava ambos da mesma forma: como crime plausível de punição devido a poluição visual, o que deixa claro o quanto essas práticas são historicamente marcadas como culturas marginais, não sendo enxergadas como uma forma de arte. Em 2011, no governo Dilma Rousself, a lei foi alterada, descriminalizando o grafite. Com a mudança, ele passou a ser considerado como um tipo de manifestação artística e também uma
forma de valorizar os patrimônios públicos ou privados.
Com relação ao modo como o Estado enxerga o grafite, a polêmica mais recente e que ganhou maior visibilidade foi a política Cidade Limpa, cujo objetivo é acabar com a poluição visual em São Paulo, proibindo propagandas em outdoors, regulando dimensões de letreiros e placas de estabelecimentos comerciais, entre outras normas estabelecidas. Colocada em vigor em 2007 pelo então prefeito Gilberto Kassab, uma das medidas mais incisivas foi cobrir os grafites espalhados pela cidade com uma tinta de tom acinzentado. A iniciativa deu origem a um documentário chamado Cidade Cinza (2013), dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo.
As gravações ocorreram em 2008 e acompanharam o dia a dia de alguns grafiteiros influentes na cena paulista e nacional, como Nina, Os Gêmeos, IZE e Nunca. Eles se uniram para refazer metade de um painel que pintaram juntos em 2002, próximo da Av. 23 de Maio, e que foi apagado pela política da Cidade Limpa. Posteriormente, em 2017, com João Doria (PSDB) no comando da prefeitura, a polêmica reacendeu com uma iniciativa semelhante, chamada Cidade Linda. Em janeiro daquele ano, muitos grafites foram apagados também na Av. 23 de Maio. Na época, o então prefeito disse ao jornal O Estado de S. Paulo que “pichador não é artista. É agressor”. Ele também relacionou os grafites aos museus, dizendo que, assim como os últimos, deveriam ficar em locais “adequados”.
A questão gerou bastante polêmica, e até hoje se discute os limites do grafite e da pichação, a imagem do grafite como movimento não marginalizado e qual o papel do Estado na preservação dessa manifestação artística. Pamela é direta quando questionada sobre o tema, principalmente porque, como disse antes, para ela o intuito é justamente causar questionamento e incômodo – buscar reações a todo custo.
“Essa ideia de Cidade Linda coloca o artista de rua como se fosse um perigo para a sociedade”, comenta ela, rindo com um leve tom de zombaria. “Acho que é criado um terrorismo em volta da arte urbana, justamente para marginalizá-la. Eu não consigo entender a gana que as pessoas têm pelo muro e pela propriedade. Não entendo de onde isso vem, mesmo olhando a sociedade em que a gente vive, que é capitalista. As pessoas têm muito medo de serem roubadas, de perderem bens materiais, que possuem uma importância muito grande no meio social em que a gente tá inserido”.
A doutora em serviço social Juliana Abramides dos Santos aponta na publicação Arte urbana no capitalismo em chamas: pixo e graffiti em explosão
que a “cidade, enquanto produção de riquezas e multiplicação das desigualdades, ao segregar os grupos e as classes sociais, é espaço de luta para a fruição e produção da vida urbana, como espaço coletivo de sociabilidade. O grafiteiro e o pixador, habitantes da cidade, afirmam o território e transformam a sua ação pincelada em cenário da cidade; sendo a pincelada, ou a sprayada, decorativa ou de demarcação identitária”. Então, pode-se considerar a arte urbana de rua como “um protesto instintivo fruto da desigualdade social vivida por jovens das periferias e favelas. Ao increverse desenhos e símbolos em um muro, uma lateral de prédio pela cidade é uma forma de marcar um local a que não tem acesso”.
Pamela continua a conversa ao expandir a discussão para a forma como a elite brasileira não parece disposta a reconhecer a arte que vem das favelas como válida. Após ajeitar discretamente o coque, ela se endireita na cadeira e sorri de canto, genuinamente interessada em colocar para fora o que mais lhe indigna. “Eu faço uns trampos de produção cultural e é como se a cultura fosse feita para uma elite. A questão é que no Brasil a nossa elite é muito cafona. Ela não entende de arte, mas quer decidir o que é arte e o que não é. Isso faz com que eles pensem que certas coisas são feitas pela ‘galera da favela’. Acho que essa questão fica visível com a tentativa de criminalizar o funk, por exemplo, e de marginalizar os MCs. Para mim, toda manifestação tem um vínculo artístico. Ninguém pode dizer o que é ou não é arte”, diz.
A artista relembra com bom humor uma ocasião em específico na qual ficou claro para ela como o grafite reflete de forma direta a realidade de quem está pintando. Mais uma vez, ela se arruma na cadeira antes de contar, com a voz animada. “É muito doido como você faz conexões na rua. Uma vez eu estava fazendo uma arte aqui no centro de Diadema no domingo de manhã – melhor horário para pintar, porque não tem polícia enchendo o saco”, ri. “Teve uma hora em que uma senhorinha passou, e dava para ver que ela era evangélica, até segurava uma bíblia debaixo do braço. Ela estava com uma moça mais jovem no mesmo estilo que ela. Quando elas passaram, a senhora disse: ‘Nossa, eu sempre quis apertar essa tinta’. Eu a chamei e ela perguntou: ‘Posso fazer?’ Eu falei que sim e ela escreveu ‘Jesus’ na parede. Achei a coisa mais bonitinha do mundo. É muito engraçado, porque a pessoa realmente vai expressar aquilo que faz parte do universo dela. Ela me perguntou o que precisava escrever e eu disse que podia ser qualquer coisa, então foi o que saiu”, conta.
Pamela tem o hábito de frequentar vários eventos de hip hop, especialmente os que dedicam um espaço para o grafite. Contudo, ainda que esteja inserida nesse meio, o machismo permanece ativo e requer vigilância. Ela recosta em seu assento quando é questionada sobre isso, expressando o mais puro cansaço em ter que lidar com a realidade de ser uma grafiteira em um movimento predominantemente masculino, como ela mesmo define.
“É muito comum estarmos grafitando e do nada chegar um monte de caras querendo te ensinar a como segurar uma lata de spray, mas quando é um homem que está fazendo algo errado ninguém fala nada”, comenta. “A gente vive em uma sociedade machista, e isso é uma treta muito grande. Existem dois lados: quando você já está presente naquela quebrada, o evento te abraça; mas quando você sai de uma região e vai para outra, o machismo ainda está muito vigente e pesado lá dentro. Eu, como mulher, nunca chego em um evento e falo ‘ah, vou pintar’, porque jamais vou me sentir segura o bastante. Se não for um evento feito pelos meus amigos, sempre tem aquela desconfiança do tipo ‘nossa, a mina vai pintar?’”.
Apesar da realidade maçante, Pamela observa uma movimentação interessante por parte das mulheres dentro da cena. Ela tem contato com eventos feitos por e para grafiteiras, ou seja, existem iniciativas cultivadas em prol da valorização da presença dessas mulheres no setor. “Acho que agora as meninas estão se fortalecendo cada vez mais e criando os próprios grupos”, explica. “O clima desses eventos é nós por nós, ou seja, a galera da comunidade tentando se ajudar. Acho que sim, existe uma rede de apoio apesar do machismo que está pronta para receber mudanças e contribuições da galera de fora e das mulheres, até porque o hip hop é uma cultura transgressora”.
Por toda região de São Paulo há coletivos voltados para mulheres grafiteiras, como o Grapixurras das Minas, criado em 2018 com o objetivo de unir as mulheres do movimento hip hop, da pichação e do grafite. Os eventos são feitos inteiramente por mulheres e exclusivamente para elas, ou seja, homens são literalmente proibidos. Pamela costuma frequentar os rolês promovidos pela iniciativa, então se insere neste contexto de mobilização.
Ainda assim, a artista também transita por encontros mistos entre pessoas do grafite, e já ouviu muitos comentários, mas usou como exemplo três casos que mais lhe impactaram. Na medida em que a conversa avança junto com a noite do lado de fora, ela fica mais à vontade. “Um dia, fiz um grafite embaixo da ponte da Rodovia dos Imigrantes. Nesse universo da pichação, existe uma regra de que você
não pode fazer um trabalho em cima de outro que já exista. Naquela ocasião, o muro estava limpo e pintado de cinza. Eu fiz o trabalho junto com meu companheiro, postei no Instagram e um cara me mandou mensagem falando que era falta de respeito, porque supostamente pintei em cima do trabalho dele. Esse foi o primeiro momento”, ela faz uma pausa dramática, sorrindo com um misto de humor e sarcasmo.
“Depois disso, eu estava em uma festa na Casa do Hip Hop de Diadema, pintando. Esse cara que me mandou mensagem também foi, só que assim, homem só conversa com homem, e o cara foi cobrar meu companheiro, e não eu. Esse meu ex-companheiro tinha um jeito mais manso de falar, tipo um menininho de condomínio. O cara falando um monte para ele e meu ex sendo super educado pedindo desculpas. Só que quando eu cheguei, já falei: ‘Mano, você quer seu muro de volta? Eu vou lá e pinto para você, senão a gente vai ficar nessa briga eternamente’. Ele não esperava que uma mulher respondesse assim, ficou bem surpreso. Tivemos uma pequena discussão, mas ficou tudo bem depois. Ele achava que ia apavorar na situação, mas foi o contrário”, ela faz uma nova pausa, organizando as lembranças.
“Em outro momento, eu estava fazendo uma pichação ilegal no muro do cemitério aqui em Diadema. Era um domingo de manhã e eu usava cabelo curto na época. Na hora, estava de boné para trás, blusão e roupas pretas. Até que passou um cara de moto e começou a me chamar de ‘viadinho’. Na hora que eu virei, ele viu que eu estava usando brincos de argola. Mostrei o dedo do meio para ele e mandei ele para aquele lugar. Ele falou: ‘Ah, é uma mulher, é piranha’, e não sei o quê. Claramente ficou confuso do que iria me xingar”, balança os ombros, já pouco impactada pelo episódio.
Pamela ri dos acontecimentos passados, embora ao mesmo tempo carregue o peso de estar vulnerável a situações semelhantes sempre que estiver grafitando em público. Ainda assim, nada disso a deixa menos enérgica e empolgada em responder qualquer pergunta. Para concluir o assunto, ela deixa no ar uma ameaça à cultura machista que ainda tenta cruzar a linha de chegada na corrida pela dominância na cena. “Tem ‘umas minas’ que chega com tudo, sobem os muros e tal. São mulheres que realmente estão levando a visibilidade feminina para dentro do grafite e fora dele. Sempre acham que se uma mina está pintando é porque tem um cara por trás dela, mas a mina vai fazer sozinha e é isso”, sorri para a câmera uma última vez.

Este livro-reportagem teve um objetivo importante e urgente: contar as histórias das mulheres que ocupam a cena hip hop atualmente, em cada um dos elementos, e descobrir o que a jornada delas tem a ensinar. No final das contas, mais do que uma aula, o que permaneceu conosco desde a primeira entrevista foi o incômodo. Não há como olhar para a realidade e não se incomodar com o que vê, mas ouvir da boca de quem sente tudo isso na pele é como tirar os monstros das sombras – e precisamos, então, admitir o quão assustadores eles são.
Durante as conversas e depois delas, o que ficou claro é que o papel da mulher, tanto dentro quanto fora da cultura hip hop, continua vazio de protagonismo em vários aspectos. Devido ao patriarcado estrutural, a vida delas, incluindo a carreira artística, precisa passar por vários filtros de julgamento antes de conseguir um espaço. Falta de oportunidade em eventos, baixa presença em competições e ódio gratuito são apenas alguns sintomas.
O hip hop em si nitidamente é a salvação de cada uma. Estas oito mulheres respiram por meio da arte e se fazem presentes graças a ela. Constroem dia a dia um pedaço a mais de si mesmas, pois a cultura as mantém em constante evolução e movimento. As ambições não são absurdas: dar uma boa vida para os filhos, evoluir na carreira e continuar sendo e se refazendo conforme necessário. É o ciclo da vida, mas cortado pela violência direta ou indireta de um sistema que ainda as coloca como coadjuvantes de si mesmas.
Essas minas estão aqui por conta de outras lá atrás que caminharam por elas. Da mesma forma, as que adentrarem na cena hoje estarão ali graças a cada uma das personalidades presentes neste livro. No fim, sempre foram elas por elas. Ainda que a luta avance, os passos são vagarosos demais em comparação a todo trabalho que elas precisam desenvolver para terem ao menos uma chance de se provarem e serem respeitadas na cena que ocupam.
O movimento feminista, bem como o movimento LGBTQIAP+, o movimento antiracismo, anti-capacitismo e tantas outras iniciativas sociais estarão sempre vivas e pulsantes para que possamos respirar. Este projeto é um lembrete de que o mundo não para, e andar para trás não é uma opção. Contudo, a realidade precisa ser vista como ela é: crua e aterrorizante. É difícil encarar e digerir, mas a consciência é uma das maiores armas contra a repressão, porque tira os indivíduos de uma posição alienadora que insiste em nos convencer de que “todos somos iguais”.
Das oito mulheres que abriram seus corações para nós durante a produção deste livro, nenhuma é igual a outra. Embora haja intersecções e demandas em comum, o DNA artístico e as heranças culturais, sociais e pessoais se diferem quase radicalmente. Não há como falar da mulher no hip hop, e sim das mulheres. Elas sempre estarão no plural, porque não há como lutar sozinha contra múltiplas engrenagens que trabalham incansavelmente para puxá-las para baixo.
Delas, por elas e para elas.


AGÊNCIA SENADO. Após Congresso derrubar veto, Lei Aldir Blanc 2 é promulgada. 2022. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/07/11/apos-congresso-derrubar-veto-lei-aldir -blanc-2-e-promulgada.
AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Pólen, 2019. Disponível em: https://files.cercomp.ufg. br/weby/up/1154/o/Interseccionalidade_(Feminismos_Plurais)_-_Carla_Akotirene.pdf?1599239359.
ALBAGLI, Sarita; SILVA, Rociclei da. Arte, informação e conhecimento na cultura hip hop. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 5, n. 1, p. 1-21, 2012. Disponível em: https://revistas. ancib.org/index.php/tpbci/article/view/267.
ALMEIDA, Ana Maria F.; MORENO, Rosangela Carrilo. O engajamento político dos jovens no movimento hip-hop. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, p. 130-142, jan./abr. 2009. Disponível em: https:// www.scielo.br/j/rbedu/a/tJ6F9MRzsCGkTZ9Y5jcSBgd/abstract/?lang=pt.
ALMEIDA, Angela Maria Menezes de. Feminilidade – caminho de subjetivação. Estudos de Psicanálise, n. 38, Belo Horizonte, MG, dez. 2012. Disponível em: pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n38/n38a04.pdf.
ALMEIDA, Júlia. O recado controverso do grafite contemporâneo. Contemporânea, v. 6, n. 1, p. 1-12, jun. 2008. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/3519.
ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. ALVES, Flávio Soares; DIAS, Romualdo. A dança Break: corpos e sentidos em movimento no Hip-Hop. Motriz, v. 10, n. 1, p. 01-07, jan./dez. 2004. Disponível em: http://www1.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/10n1/ 07FSAA.pdf.
AMORIM, Mariana Fernandes da Cunha Loureiro; BISPO, Danielle de Araújo; DOURADO, Débora Cou tinho Paschoal. Possibilidades de dar sentido ao trabalho além do difundido pela lógica do Mainstream: um estudo com indivíduos que atuam no âmbito do movimento Hip Hop. Revista o&e, v. 20, n. 67, p. 717-731, nov./dez. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/osoc/a/rNmRbvNkLFJGQZ8B4y5n9Fc/? format=html&lang=pt.
ARAÚJO, Peu. Um, dois. Um, dois. O exercício do rap nordestino. 2018. Disponível em: https://revistatrip. uol.com.br/trip/don-l-baco-exu-do-blues-e-o-que-esta-por-tras-da-cena-de-rap-nordestina.
ARAÚJO, Peu; DIAS, Tiago. Entre beats e bolhas. 2020. Disponível em: https://tab.uol.com.br/edicao/rap -nordestino/#cover.
AS MINA RISCA. Edição especial em apoio à DJ Mayra Maldjian. 06 jun. 2022. Instagram: asminarisca. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CeeuWq4Po7N/.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO M’BOI MIRIM. Capão Redondo ganhará o primeiro CT de breaking dance do Brasil. 2021. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeitu ras/m_boi_mirim/noticias/?p=113648.
AZEVEDO; Amailton Magno. No Ritmo do Rap: Música, Oralidade e Sociabilidade dos Rappers. História e Oralidade, v. 22, p. 357-376, jan./jun. 2001. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/ article/view/10746.
BARDUSCO, Gabriela. Novo esporte olímpico: Conheça Itsa e FabGirl, dois dos principais nomes do breaking brasileiro. 2021. Disponível em: https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2021/10/novo-es porte-olimpico-conheca-itsa-e-fabgirl-dois-dos-principais-nomes-do-breaking-brasileiro.html.
BLAUTH, Lurdi; POSSA, Andrea Christine Kauer. Arte, grafite e o espaço urbano. Palíndromo, v. 4, n. 8, p. 146-163, ago./set. 2012. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/ view/3458.
CARVALHO, Cátia Fernandes de. Presenças Femininas na Dança de Rua Coreografando Estéticas da Existência. Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Porto Alegre, RS, 2009. Disponível em: https:// lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17844/000725652.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
CARVALHO, Felipe. 2021 e a cultura do cancelamento: ano em que mais se discutiu sobre rejeição online. 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/2021-e-a-cultura-do-cancelamento -ano-em-que-mais-se-discutiu-sobre-rejeicao-online/.
CORRÊA, Maria Eduarda Cavadinha. Duas mães? Mulheres lésbicas e maternidade. Tese (Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública), Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, SP, 2012. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-29042012-124625/publi
co/tese_maria_eduarda_cavadinha_correa.pdf.
COSTA, Flor. Wutremclan os Rimadores do Vagão: a contribuição social do rap nos trilhos de São Paulo. 2019. 31 f. Monografia (Especialização) - Curso de Gestão de Projetos Culturais, Centro de Estudos Lati no-Americanos Sobre Cultura e Comunicação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://celacc.eca.usp.br/pt-br/tcc_celacc/wutremclan-rimadores-vagao-contribuicao-social-rap-tri lhos-sao-paulo.
COSTA, Mônica Ferreira. Resenha da obra: Ensinando a transgredir: a educação como prática da liber dade, de bell hooks. Pesquiseduca, v. 13, n. 31, p. 949–957, nov. 2021. Disponível em: https://periodicos. unisantos.br/pesquiseduca/article/view/1182.
CUNHA, Carolina. Afinal, qual é a diferença entre grafite e pichação?. Disponível em: https://vestibular. uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/afinal-qual-e-a-diferenca-entre-grafite-e-pichacao.htm.
DASARTES. Na quarentena, Instagrafite cria o Women On Walls (WOW), o primeiro programa gratuito que profissionaliza exclusivamente mulheres artistas visuais. 2020. Disponível em: https://dasartes.com. br/de-arte-a-z/na-quarentena-instagrafite-cria-o-women-on-walls-wow-o-primeiro-programa-gratuito -que-profissionaliza-exclusivamente-mulheres-artistas-visuais/.
DESABAFO SOCIAL. Será que é racismo? Por Lívia Cruz e Bárbara Sweet. 01 fev. 2018. Facebook: @desa bafosocial. Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=1582560911822090.
DEVULSKY, Alessandra. Colorismo. 1ª edição, Editora Jandaíra, São Paulo, SP, 2021. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=kNEnEAAAQBAJ&dq=colorismo&lr=lang_pt&hl=pt=-BR&source gbs_navlinks_s.
DOMINGUES, Sérgio. A contribuição do hip-hop para a construção de pedagogias de resistência e de transformação social. 2014. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, Centro de Educação e Hu manidades, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: https://www. bdtd.uerj.br:8443/handle/1/14932.
DONATO, Cássia Reis. Hip Hop e feminismo negro nos processos de participação de jovens negras. 2012. 238 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizon te, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-ALAFU7.
DORNELAS, Luana; PIMENTEL, Evandro. Red Bull BC One: conheça o maior evento de breaking do mun do. 2021. Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/breve-historia-do-red-bull-bc-one.
ESTRELLA, Charbelly. A poética do grafite e a visualidade do ambiente urbano. LOGOS, v. 10, n. 1, p. 128-149, jan./jun. 2003. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/ view/14710.
FARIAS, Victor. Número de feminicídios cai 1,7% em 2021, mas outras violências contra mulheres crescem, mostra Anuário. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/28/ numero-de-feminicidios-cai-17percent-em-2021-mas-outras-violencias-contra-mulheres-crescem-mostra -anuario.ghtml.
FELIX, João Batista de Jesus. Hip Hop: Cultura e Política no Contexto Paulistano. 2005. 206 f. Tese (Dou torado) - Curso de Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-01052006181824/pt-br.php.
FIGUEIREDO, Ana Luísa Silva. Mulheres e o urbano: apreensão do graffiti na região metropolitana de São Paulo. In: MUNDOS DE MULHERES & FAZENDO GÊNERO, 13; 11, 2017, Florianópolis. Disponível em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1496855943_ARQUIVO_WW-Comunica caoOral-AnaLuisa-TextoCompletoV0.pdf.
FIGUEIREDO, Ana Luísa Silva. Mulheres no graffiti: perspectivas da prática em contexto metropolita no. 2019. 228 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/ disponiveis/102/102132/tde-09092019-092839/pt-br.php.
FILHO, Jorge Cardoso; JÚNIOR, Jeder Janotti. A música popular massiva, o mainstream e o undergrou nd: trajetórias e caminhos da música na cultura midiática. 2006. Disponível em: http://www.intercom. org.br/papers/nacionais/2006/resumos/r1005-1.pdf.
FINN, John. Propaganda, grafite e as representações de uma cidade negra. Educação Temática Digital, v. 11, n. 2, p. 75-101, jun. 2010. Disponível em: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/11924.
FOCHI, Marcos Alexandre Bazeia. Hip hop brasileiro: Tribo urbana ou movimento social?. FACOM, São
Paulo, v. 17, p. 61-69, jun. 2007. Disponível em: https://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/fa com_17/fochi.pdf.
FONSECA, Ricardo Lopes; MARQUES, Ana Carolina dos Santos. A construção de territórios por mulhe res negras por meio do hip hop: Aproximações teóricas. GeoAtos, v. 1, n. 16, p. 20-44, mar. 2020. Disponí vel em: https://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/7286/MARQUES.
FRANCISCHETTO, Gilsilene Passon Picoretti; COSTA, Lucas Kaiser. A contribuição do movimento hip-hop no processo de valorização da cultura produzida na periferia. Revista Quaestio Iuris, v. 12, n. 04, Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Rio de Janeiro, RJ, 2019. Dispo nível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/39956.
FREIRE, Rebeca Sobral. Hip-hop feminista?: Convenções de gênero e feminismos no movimento Hip-hop soteropolitano. Salvador: Editora da UFBA, 2018. Disponível em: https://books.scielo.org/id/kjc63.
FREITAS, Vanilto Alves de. O Processo de Transmissão da Breakdance: técnicas corporais presentes na dança do movimento hip-hop. 2004. 84 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2004. Disponível em: http://www. lakka.com.br/wp-content/uploads/2017/11/O-PROCESSO-DE-TRANSMISSAO-DA-BREAKDANCE.pdf. G1. Lei Rouanet: Entenda como funciona lei e o que mudou nos últimos meses. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/06/lei-rouanet-entenda-como-funciona-lei-e-o-que-mu dou-nos-ultimos-meses.ghtml.
GARCIA, George. Em Diadema Breaking cresce com apoio de patrocínio e do comitê olímpico. 2022. Disponível em: https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3137866/em-diadema-breaking-cresce-com -apoio-de-patrocinio-e-do-comite-olimpico/.
GERALDO, Guilherme Basilio. Pequenos trabalhadores: arte de rua nos vagões, causos dos trilhos e o (re) encontro identitário de um palhaço periférico. 2022. 99 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Arte-Teatro, Instituto de Arte, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/217772.
HERSCHMANN, Micael. O Funk e o Hip-Hop invadem a cena. 2ª edição, Editora UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 2005. Disponível em: https://micaelherschmann.files.wordpress.com/2013/05/o-funk-e-o-hip-hop-inva dem-a-cena.pdf.
HONORATO, Geraldo. Grafite: da marginalidade às galerias de arte. 2009. Disponível em: http://www. diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1390-8.pdf.
INSTITUTO PÓLIS. Juventudes nas Cidades: Hip Hop no Vagão. 2020. Disponível em: https://polis.org.br/ noticias/juventudes-nas-cidades-hip-hop-no-vagao/.
JUNTAS Hacemos Más Fest. 2022. Disponível em: https://www.reconociendomexico.com.mx/juntas-ha cemos-mas-fest/.
LIMA, Mércia Ferreira de. A participação feminina no Hip-Hop: Jovens mulheres em culturas juvenis. Monografia (curso de de Antropologia com habilitação em Antropologia Visual), Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Departamento de Ciências Sociais, Rio Tinto, Paraíba, PB, 2014. Disponível em: https:// repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/14909/1/MFL15092014.pdf.
LOMBAS, Miguel. Os movimentos sociais e a cultura: o Hip-Hop e o feminismo. Programa de Pós-Gradu ação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, Bahia, BA, 2022. Disponível em: https://www.revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2022/880_os_movimentos_ sociais_e_a_cultura_o_hip_hop_e_o_feminismo.pdf.
LOPES, Joana Gonçalves Vieira. Grafite e pichação: os dois lados que atuam no meio urbano. 2011. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Comunicação Socia, Departamento de Publicidade e Propaganda, Universi dade de Brasília, Brasília, 2011. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/3824.
LÓPEZ, Alberto. Hip hop: como nasceu o gênero musical que transformou a música. 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/cultura/1502442803_063516.html.
MACEDO, Márcio. Baladas Black e Rodas de Samba da Terra da Garoa. Editora Terceiro Nome, São Paulo, SP, 2007. Disponível em: https://www.academia.edu/918813/Baladas_Black_e_Rodas_de_Samba_da_ Terra_da_Garoa.
MAIA, Dominique; STÄHLER, Gabriela. Lei Rouanet: conheça a lei de incentivo à cultura. 2022. Disponí vel em: https://www.politize.com.br/lei-rouanet/.
MALDJIAN, Mayra. ‘Uh!Manas TV’ traz programação musical 100% feita por mulheres. 2020. Disponí vel em: https://www.streetopia.me/m/news/5f7b4277198a5719515cb817/uh-manas-tv-traz-programacao
-musical-100-feita-por-mulheres.
MARTINS, Júnia. Cinza nos muros: gerenciamento da produção de grafite e criminalização da picha ção na cidade de São Paulo. Anuário Unesco/Metodista de Comunicação Regional, v. 21 n. 21, p. 113-128, jan./dez. 2017. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/AUM/article/ view/9332.
MAZER, Dulce Helena; GELAIN, Gabriela; GUERRA, Paula. Eu sou MC: participação coletiva e plural de mulheres em cenas musicais rap. Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesqui sas em Midiatização e Processos Sociais, [S.l.], v. 1, n. 2, set. 2019. ISSN 2675-4169. Disponível em: <https:// midiaticom.org/anais/index.php/seminario-midiatizacao-resumos/article/view/793>.
MELO, John. Sobre Nina Pandolfo. Disponível em: https://www.ninapandolfo.com.br/sobre-mim.
MENEZES, Jaileila de Araújo; MOURA, Renata Paula dos Santos; SOUZA, Maria Luiza. Cores e rimas dos tensionamentos de gênero no movimento hip hop. In: REDOR, 18, 2014, Recife. Disponível em: http:// www.ufpb.br/evento/index.php/18redor/18redor/paper/viewFile/749/841.
MENEZES, Jaileila de Araújo; RODRIGUES, Maria Natália Matias. Jovens mulheres: reflexões sobre juventude e gênero a partir do Movimento Hip Hop. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales, v. 12, n. 2, Manizales, Colômbia, jul./dez. 2014. Disponível em: http://www. scielo.org.co/pdf/rlcs/v12n2/v12n2a14.pdf.
MORAES, Carolina. Como a Lei Aldir Blanc pode salvar a cultura com Rouanet desmontada por Bolsona ro. 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/08/como-a-lei-aldir-blanc-pode -salvar-a-cultura-com-rouanet-desmontada-por-bolsonaro.shtml.
MORAES, Carolina. Governo Bolsonaro paralisou sistema que acabaria com problemas da Lei Rouanet. 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/09/governo-bolsonaro-paralisou-sis tema-que-acabaria-com-problemas-da-lei-rouanet.shtml.
NASCIMENTO, Henrique. Retrospectiva: A ascensão de mulheres no rap brasileiro na década de 2010. 2020. Disponível em: https://cinebuzz.uol.com.br/noticias/musica/ascensao-de-mulheres-no-rap-brasilei ro-na-decada-de-2010.phtml.
NICOLAU, Victória Sthefanie Ribeiro. Lei Paulo Gustavo: o que é e para que serve. 2022. Disponível em: https://www.politize.com.br/lei-paulo-gustavo/.
OKEREKE, Tasha; OKEREKE, Tracie. Estética, hype e moda no hip hop. 2019. Disponível em: https:// tashaetracie.blogosfera.uol.com.br/2019/08/02/estetica-hype-e-moda-no-hip-hop/.
OLIVEIRA, Adriele Albuquerque de. Danças urbanas: desmistificando conceitos do gênero feminino no breaking. 2021. 46 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Dança, Escola Superior de Artes e Turismo, Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2021. Disponível em: http://repositorioinstitu cional.uea.edu.br/handle/riuea/3994?mode=full.
OLIVEIRA, Roberto Camargos de. Rap e política: Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitem po, 2015.
PAIVA, Vitor. Hip Hop: arte e resistência na história de um dos movimentos culturais mais importantes do mundo. 2021. Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2021/08/hip-hop-arte-e-resistencia-na -historia-de-um-dos-movimentos-culturais-mais-importantes-do-mundo/.
PAIXÃO, Sandro José Cajé da. O meio é a paisagem: pixação e grafite como intervenções em São Paulo. 2011. 218 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/93/93131/tde-15062012-134631/ en.php.
PAULINO, Mari. Como o hip hop se tornou agente transformador da cultura preta. 2022. Disponível em: https://tangerina.uol.com.br/musica/linha-do-tempo-hip-hop/.
PAULINO, Mari. Grime, drill, trap: Conheça subgêneros do rap que estão em alta. 2022. Disponível em: https://tangerina.uol.com.br/musica/subgeneros-rap-grime-drill/.
PEREIRA, Bruna Cristina Jaquetto. Sobre usos e possibilidades da interseccionalidade. Civitas, v. 3, n. 21, p. 445-454, set./dez. 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/civitas/a/h7rvGvv5gNPpkm7MjMG 6D5c/.
PINCER, Pedro. Senado aprova Lei Aldir Blanc 2, que estende apoio à cultura por 5 anos. 2022. Disponí vel em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/03/senado-aprova-lei-aldir-blanc-2-que-esten de-apoio-a-cultura-por-5-anos.
PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. 1ª edição, Editora Fundação Per
seu Abramo, São Paulo, SP, 2003. Disponível em: https://democraciadireitoegenero.files.wordpress. com/2016/07/pinto-cc3a9li-regina-jardim-uma-histc3b3ria-do-feminismo-no-brasil.pdf.
QUEEN, Tiely. Hip Hop fora do armário. Revista da ABPN, v. 10, p. 461-471, jan. 2018. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56081321/HIP_HOP_FORA_DO_ARMARIO_-_Tiely-with-cover -page-v2.pdf?Expires=1668825847&Signature=Lb78CmgQpdTaG1FdEhNLLtR9QtWSSCvRDIFuoFO63~ra AacWMQrwdtnrp2xiPPGAHDqXP4sxeW3Neo7YvAq8lCY1QyQsYEbJYdg1CQl5GE0IVvvmTdqaesw0Tg 0QPgajdco8ECjMfecAQJwZ-0O4XUdhFjPGoeBVXCUSS2otvzXAislTgTHifHXJitmLP93-fVr2HOcOA-qi~ -9jlJKF94-h6MACwmjWsmsOJi4ocdkAXlOT1PMtCL20tzyE-QZ6de~ZwneBIl6a8p1ExuZBtHl-9Bontkule f~8jYaewpXFN1Dtb7TTvoDRPV~ySsLcn7CUZxhLvrw5wdry0qMtcQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGS LRBV4ZA.
RABETTI, Luana. Cultura HIP HOP: Resistência e Filosofia das Ruas – Os anos 1980. 2022. Disponível em: https://www.sescsp.org.br/cultura-hip-hop-resistencia-e-filosofia-das-ruas-os-anos-1980/.
RAMOS, Izabela Nalio. Funkeiras e hip hoppers, mulheres artistas em movimento. Proa, v. 1, n. 7, p. 180-188, jan./jun. 2017. Disponível em: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/proa/article/ view/16517.
REACTIVACIÓN del sector Cultura: Festival Nosotras Estamos en la Calle se realizó en Cusco. 2022. Disponível em: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/631519-reactivacion-del-sector-cultura -festival-nosotras-estamos-en-la-calle-se-realizo-en-cusco.
RED BULL. Red Bull BC One Brazil. 2022. Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull -bc-one-cypher-brazil/.
REDAÇÃO HYPENESS. Rainhas das Ruas: uma matéria especial sobre mulheres no graffiti. 2018. Dispo nível em: https://www.hypeness.com.br/2018/11/rainhas-das-ruas-uma-materia-especial-sobre-mulhe res-no-graffiti/.
REIA, Jhessica. Ritmos da cidade: som, regulação e persistência da música de rua. In: EN CONTRO ANUAL DA COMPÓS, XXVII, 2018, Belo Horizonte. Disponível em: https://d1wqtxt s1xzle7.cloudfront.net/56911577/Anais_Reia_Compos2018-libre.pdf?1530557693=&respon se-content-disposition=inline%3B+filename%3DRITMOS_DA_CIDADE_som_regulacao_e_persist. pdf&Expires=1668650544&Signature=IopyTOmJWKNRaJRRl89WKlIXoo79XVnWmZ6f3Q0m4qt4K QAXGdQfeazrMNX8G2fR0jx0cOpNWO7byaV7GmZc7Vn38xyg417T14mhynPwEeY0~dPyy7hAFzJw~ tH8KTvgFW7BC~7jleI4otqHfQxjU8MnG4Q09UXUEExmcZ0F7bkyykzGyeAv8fsTPJZKI4VOBCT9BJD -~awbr2Kxml4o6E7tZG~Vyi~8~7jyUS4bb8UT03ebV9A62bh~y67gDuFyNxzVvuQgn9B9cPX2H~n3vea 3engiT3LU3XSY8nCyDedw4s1zzDaGV1m7BmsQmzz~c45HWL5tqbqHpHykgWa4gw__&Key-Pair=-Id APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
RESENDE, Leandro. Maridos e ex-maridos são responsáveis por 90% dos feminicídios no Brasil. 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/maridos-e-ex-maridos-sao-responsaveis-por -90-dos-feminicidios-no-brasil/.
RIBERITO, Arilda Ines Miranda; CAETANO, Marcio Rodrigo Vale; BRAGA, Leith Daiani da Silva. Les bofobia familiar: técnicas para produzir e regular feminilidades heterocentradas. Pro-Posições, v. 33, Campinas, São Paulo, SP, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pp/a/xqf9WZCrXcTWm3ZtYNh TwDJ/?format=pdf&lang=pt.
RODRIGUES, Maria Natália Matias. JOVENS MULHERES RAPPERS: Reflexões sobre gênero e geração no Movimento Hip Hop. Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Psicologia, Recife, PE, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10254/1/Disserta%c3%a7% c3%a3o%20Nat%c3%a1lia%20Rodrigues.Vers%c3%a3ofinalpdf.pdf.
RUFINO, Mariana; SEGURADO, Rosemary. Cultura do cancelamento: uma análise de Karol Conká no BBB 21. PragMATIZES. v. 12, n. 22, p. 616-640, mar. 2022. Disponível em: https://periodicos.uff.br/pragma tizes/article/view/51090.
SALLES, Ecio de. A narrativa insurgente do hip-hop. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 24, p. 89-109, jul./dez. 2004. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4846187.
SANTOS, Alcina Loyane da Silva Marques. Emancipação da mulher e feminismo: uma análise a partir de Simone de Beauvoir e bell hooks. Pólemos, v. 10, n. 21, p. 375-386, set./dez. 2021. Disponível em: https:// periodicos.unb.br/index.php/polemos/article/download/38506/32285/121667.
SANTOS, Joelma de Sales dos. Rap, periferia e questões de gênero: história e representações. 2016. 104 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2016. Disponível em: https://tede.pucsp.br/handle/handle/19497.
SANTOS, Juliana Abramides dos. Arte urbana no capitalismo em chamas: pixo e grafite em explosão. 2019. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22917.
SANTOS, Maria Aparecida Costa dos. O Universo Hip-Hop e a fúria dos elementos. 2017. 191 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-19042018-155632/en.php.
SARAIVA, Rafael. Rap decolonial: Minas e monas na cena do Hip-Hop brasileiro. Discente Planície Cien tífica, v. 3, n. 1, Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, RJ, jan./jun 2021. Disponível em: https://www. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgxqTO7Kn7AhWdLLkGHb FZCd0QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.uff.br%2Fplaniciecientifica%2Farticle%2F view%2F29599%2F29858&usg=AOvVaw2P8Nlum72e8X1MLuVEWrVf.
SILVA, Célia Regina da. Experiências midiáticas e identidades culturais no hip hop: saberes e fazeres fe mininos negros. Tabuleiro das Letras, v. 9, n. 1, p. 72-82, jun. 2015. Disponível em: https://www.revistas. uneb.br/index.php/tabuleirodeletras/article/view/1591.
SILVA, Karolyne Tuyane Santarém da. Hip-Hop: Instrumento Social de Luta e Resistência Periférica e Fe minista. 2018. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de Serviço Social, Departamento de Serviço Social, Universi dade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/25750.
SIMÕES, José Alberto. Entre percursos e discursos identitários: etnicidade, classe e identitários: etnici dade, classe e género na cultura género na cultura género na cultura hip-hop hip-hop. Estudos Femi nistas, v. 21, n. 1, p. 107-128, jan./abr. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ref/a/g8h5XcwyjZ8h 7Z4HMgc4VBB/abstract/?lang=pt.
SIQUEIRA, Deisy Daniela Santos. Principais desafios para a mulher artista do graffiti. 2020. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas e Biológicas, Univer sidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs car/13443?locale-attribute=pt_BR.
SOBREIRA, Gabriela. A importância do envolvimento da mulher no hip hop. 2017. Disponível em: https:// blackpipe.com.br/2017/08/09/importancia-do-envolvimento-da-mulher-no-hip-hop/.
SOUZA, Patrícia Lânes A. de; ZANETTI, Julia. Jovens no feminismo e no Hip Hop na busca por reco nhecimento. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 26, 2008, Porto Seguro. Disponível em: https:// d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30872282/julia_zanetti-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1668825741& Signature=Q0q22pFYbuwgUflIVhbxVMzUpGUjHMyqXIE8IT0mWcOcp89UcPTr-XCSIcaoaeDx1ZywiWa kkKLtEgvPHRIr0CpzU1H8cFcU~W69Uz~uPwKOrhWHc~My5O0ROkPMFjIGGqx2y3Bpuvzp853O~hcsu 3XXdMfDIbkLD6FwDpPUk89GjSfFdDn3vcTdCgJgIQkn4c7HQyvihZjuc4N1hvqxLU8Cg67ksJLCNDsAR SXSYgskc07nKldanL71qVvRSRj7cqytJFrZth4PAIUWI9OfjlfbUo4o6RYYYOookecsHw03IxsT6CivCdPI J2USdk1~yaJ3GcowHHvNNhttl7RqTQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
TAKEASHI, Julia Ayumi. Nova modalidade na área olímpica: o que é o breaking?. 2022. Disponível em: http://jornalismojunior.com.br/nova-modalidade-na-area-olimpica-o-que-e-o-breaking/.
TELLA, Marco Aurélio Paz. Atitude, arte, cultura e autoconhecimento: o rap como voz da periferia. 2000. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/18440.
TEPERMAN, Ricardo. Se liga no som: As transformações do rap no Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2015. TNM. Brancos racistas se divertem, militantes negros se combatem. 2018. Disponível em: https://todos negrosdomundo.com.br/brancos-racistas-se-divertem-militantes-negros-se-combatem/.
VIANA, Rubiana Nascimento. Raça, gênero e classe na perspectiva de bell hooks. Sociedade e Cultura, v. 24, mai. 2021. Disponível em: https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/66604.
WELLER, Wivian. O Hip Hop como possibilidade de inclusão e de enfrentamento da discriminação e da segregação na periferia de São Paulo. Caderno CRH, v. 17, n. 40, p. 103-116, jan./abr. 2006. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18483.
WOW - WOMEN ON WALLS. Diferença salarial homens e mulheres. 10 maio 2022. Instagram: wome nonwalls.co. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CdYQEiHIDTU/?hl=pt-br.
ZIBORDI, Marcos Antônio. Paródia: base das bases musicais dos DJs de hip hop em São Paulo, Brasil. ECCOM, v. 10, n. 20, Lorena, São Paulo, SP, jul./dez. 2019. Disponível em: https://docplayer.com.br/ 210125032-Parodia-base-das-bases-musicais-dos-djs-de-hip-hop-em-sao-paulo-brasil.html.
