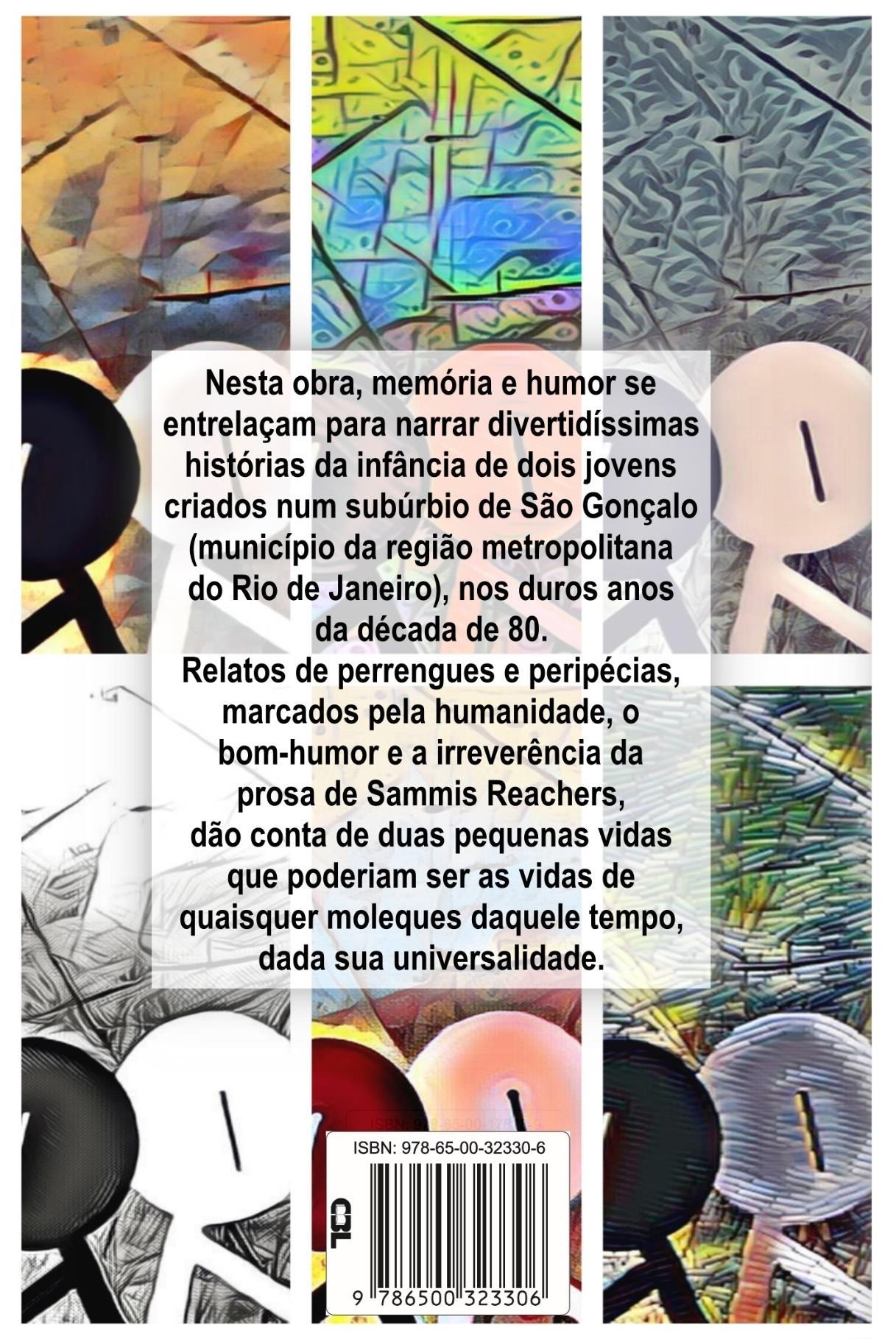1
LIVRO GRATUITO
2
Sammis Reachers
Renato Cascão & Sammy Maluco Uma dupla do balacobaco
3
Copyright ©2021 Sammis Reachers Ilustrações de Franciliudo G. Freitas – Studio Lin Ilustra
ISBN: 978-65-00-32330-6 4
“É melhor escrever sobre o riso do que sobre a lágrima. Porque o riso é próprio do homem.” Rabelais
5
6
Sumário Apresentação.....................................................................07 Capítulo 1: Situando os quiprocós ...................................10 Capítulo 2: Um assalto à horta do hospício ...................14 Capítulo 3: Sexto Sentido ..................................................18 Capítulo 4: Sobre paus, pedras e sopapos ....................21 Capítulo 5: A fundação do MMA numa comuna gonçalense .........................................................................24 Capítulo 6: Meganha, raça do cão ................................28 Capítulo 7: Papita e o atoleiro .........................................31 Capítulo 8: Ri por último quem ri de bolso cheio ..........36 Capítulo 9: O sítio mal-assombrado de Seu Pedro .......39 Capítulo 10: As doces mangas – e o muro – do velho Lauro ....................................................................................45 Capítulo 11: A rapina bananal .........................................49 Capítulo 12: Jamelões!......................................................54 Capítulo 13: De quando fomos desafiar o famigerado Lobão para um jogo de bolas de gude .........................57 Capítulo 14: Sobre nossos apelidos.................................60 Capítulo 15: O Triciclo dos Alucinados ...........................62 Capítulo 16: Renato e seu cachorro Bugui .....................65 Capítulo 17: Volnei Peito-de-Aço ....................................67 Capítulo 18: Os caronistas ................................................73 Capítulo 19: Vamos falar sobre etnia ..............................78 Capítulo 20: Casemiro, O Profeta ....................................82 Capítulo 21: O Pau-de-Sebo ............................................87 Capítulo 22: Gambá e o Gran Cassino Palha Seca ......93 Capítulo 23: O Tempero Colombiano .............................99 Capítulo 24: Epílogo.........................................................107 Sobre o autor ....................................................................112
7
Introdução Este pequeno volume reúne algumas memórias de minha infância, transcorrida entre meados da década de 80 e inícios da década de 90 do século passado. Não faz assim tanto tempo, mas ainda era numa época em que as crianças, então não feridas pelas virtualidades da web ou enjauladas pelo risco da violência lá fora, brincavam de fato e de direito. E era um brincar na acepção plena do termo, na configuração máxima das 24 horas do dia, onde os pequerruchos exploravam o seu geralmente vasto espaço vital à exaustão. Claro, nem tudo eram flores; a pobreza exercia o seu duro reinado, e aprendendo a driblá-la levávamos a vida – uma vida sofrida, transida de malandragem e inocência, mas, atropelando os pesares, profundamente feliz. Afinal, o chão da memória é apagar o grosso das sofrências, ou romantizar pela nublagem o rude dos amargos momentos. Há um texto anônimo de grande beleza, e que acredito sirva de excelente introdução às pequenas e divertidas narrativas que aqui vão rascunhadas: O QUE É UM MENINO? Os meninos se apresentam em tamanho, peso e cores sortidas. Encontram-se por toda a parte, em cima, em baixo, dentro, fora, trepados, pendurados, caindo, correndo, saltando. As mães os adoram, as meninas os detestam, as irmãs e os irmãos mais velhos os toleram, os 8
adultos os ignoram e o céu os protege. Um menino é a verdade de cara suja, a sabedoria de cabelo esgadelhado, a esperança de calças caindo. Tem o apetite do cavalo, a digestão do avestruz, a energia da bomba atômica, a curiosidade do mico, os pulmões de um ditador, a imaginação de Júlio Verne, a timidez da violeta, a audácia da mola, o entusiasmo do buscapé e tem cinco polidáctilos em cada mão, quando pratica suas reinações. Adora os doces, os canivetes, as serras, o Natal e a Páscoa; admira os reis e os livros de figuras coloridas; gosta do guri do vizinho, do ar livre, da água, dos animais grandes, do papai, dos automóveis e dos trens, dos domingos, das bombas e traques. Abomina as visitas, o catecismo, a escola, os livros sem figuras, as lições de música, as gravatas, os casacos, os barbeiros, as meninas, os adultos e a hora de dormir. Levanta cedo e está sempre atrasado à hora das refeições. Nos seus bolsos há sempre um canivete enferrujado, uma fruta verde mordida, um pedaço de barbante, dois botões e algumas bolinhas de gude, um estilingue, um pedaço de substância desconhecida e um objeto raro, que lhe é precioso por 24 horas. É uma criatura mágica. Você pode fechar-lhe a porta do seu quarto de ferramentas, mas não a do seu coração... Pode expulsá-lo do seu escritório, mas não do seu pensamento. Toda a sua importância e a sua autoridade se desmoronam diante dele, que é o seu carcereiro, seu chefe, seu amo... Ele, um despótico e ruidoso mandãozinho!... Mas quando você volta para casa, à noite, de esperanças e ambições 9
despedaçadas, ele pode compô-las num instante com as suas palavrinhas mágicas: "OH! — MAMÃE!". É de se imaginar que as travessuras aqui narradas tenham como personagens principais esses dois aí do título: Meu amigo de infância, Renato “Cascão”, e o Sammy “Maluco”, este pacato alucinado que vos escreve. Mas não apenas eles ou nós: Outros atores desta óperabufa que é a vida numa periferia se fazem presentes, emprestando suas histórias para, queira Deus, trazer um pouco de alegria e diversão a você, amigo leitor.
10
Capítulo 1 Situando os quiprocós
Toponímia é aquela área de estudo que se ocupa dos nomes próprios de lugares. Iniciemos este relato esclarecendo alguns embaraços toponímicos, sem os quais o leitor talvez não consiga se situar no teatro dos eventos. A região aqui em geral referida pertence “legalmente” ao bairro de Tribobó; sim, o bairro com um dos nomes mais divertidos – ou ridículos – do Brasil. Situado no município fluminense de São Gonçalo, o extenso Tribobó é composto pelo que se chama de sub-bairros, que, oficiais ou não, são pequenas repartições ou regionalizações adotadas principalmente pelos moradores desses lugares. Ao trecho de Tribobó em que fui criado chamamos de Jardim Nazaré, também grafado Jardim Nazareth, ou o termo que hoje o faz, não com justiça, conhecido alhures: Palha Seca. Evito em geral o termo Palha Seca pois ele hoje refere uma ampla área, que, tendo visto nascer nos últimos trinta anos algumas favelas em seu corpo, agora recebe até a designação de complexo, o “Complexo do Palha Seca”. Assim, com Jardim Nazaré busco definir uma área delimitada dentro disso que se chama Palha Seca; sim, um pequeno trecho composto por três ruas principais e mais umas quatro paralelas. Levantado nosso cercadinho, vamos fundamentar os relatos. 11
Boa parte de minha infância e primeira adolescência foi passada na favelinha Beira do Rio ou Beira Rio, pequeno bocado de chão do já pequeno Jardim Nazaré. Ela recebe esse nome, você já pode imaginar, por margear trecho de um rio – neste caso, o Rio Alcântara, que nasce no município niteroiense de Pendotiba, alguns quilômetros acima de nosso ponto, e percorre quase meia São Gonçalo (mudando de quando em quando ou de trecho em trecho de nome, como um fugitivo) em sua peregrinação soturna em busca da Baía de Guanabara. Morando numa rua de acesso à movimentada Beira Rio, sua influência, como um ímã, não poderia me deixar escapar, estando eu a tão poucos metros de sua fervura. Muitas aventuras foram vividas ali – ou não exatamente nela, mas em andanças a partir dela – andanças em que eu e os companheiros de ocasião percorríamos quilômetros que, hoje, me defenestrariam as pernas, caso eu tentasse encará-los. Um desses companheiros de ocasião era na verdade um companheiro de muitas ocasiões, um amigo, na medida em que este termo se aplicava às relações sempre algo hostis que eram mantidas naqueles tempos, naquele lugar. Seu nome era Renato. Renato Batista dos Santos. Irmão de quatro irmãos, paupérrimos – moravam todos quase amontoados num barraco de um único cômodo. Minha situação era bem mais favorável, embora eu fosse, claro, perfeitamente pobre. Devo a Renato muito de minhas iniciações no mundo real, iniciações que, a duras penas, conseguiram romper o perfeito inapto ou inocente 12
que eu era. As lições de “malandragem” eram aplicadas diariamente, sem muita cerimônia. Uma de nossas maiores ocupações era, quase que todos os dias, catar ferro-velho – reciclagem, cobre, alumínio, garrafas e até ferro, ferro depois abandonado pois o lucro não compensava o sacrifício de, franzinos moleques que éramos, carregar todo aquele peso. Ocupados em nosso ofício – cujo objetivo era conseguir dinheiro para comprar picolés e sorvetes da Kibom, pão com mortadela, refrigerantes, doces, jogar fliperamas e, ao menos no meu caso, comprar figurinhas variadas – como dito, andávamos quilômetros, a cada dia traçando uma rota. Na época não havia coleta de lixo na região, lixo que era então despejado em “pequenos” lixões (terrenos baldios) que abundavam em cada bairro e sub-bairro. Renato me ensinava nessas andanças a primeira lição da vida ou daquela vida – cada um por si, nada de catar em conjunto. E ele, claro!, sempre conseguia mais materiais de valor que eu. O bicho enxergava como uma águia! Com o tempo, fui melhorando. Outra lição – essa vergonhosa e perfeitamente dispensável – que Renato me ensinou foi a roubar. Mas calma lá, leitor, que não lhe quero escandalizar logo neste início de livrete: Não eram furtos dignos do risco ou talvez da fama, eram apenas surrupios de pequenos pedaços de cobre, que jaziam amarrando canos e cercas; garrafas de cerveja e garrafões de vinho largados em algum depósito de fundo de quintal; panelas velhas que eram utilizadas como vasos de planta – ah, quantas plantas eu deitei fora, 13
eu que depois aprendi a amá-las! Quando podia, removia cautelosamente a planta e sua touceira de terra da panela, depositando a touceira gentilmente a um canto. Quem sabe a madame não conseguisse um outro vaso para reacondicioná-la? Esses pequenos furtos também foram uma severa escola – em geral, nos quintais mais “arriscados”, eu, mais lerdo e ainda por cima mais “visível” pela minha pele amarelona, ficava de vigia, enquanto Renato lá ia tentar aliviar... LIXO, mas era roubo pois o “lixo” tinha dono, e trazia na corcunda seu risco. Há quem diga que éramos pueris ecovisionários promovendo ou ao menos “adiantando” a reciclagem de materiais que, largados como estavam na “natureza”, levariam séculos e oh!, quiçá milênios para se decomporem, comprometendo ecossistemas locais e globais. Para esses, fomos paladinos da sustentabilidade, arautos de um futuro eco-responsável (particularmente, gosto bastante desta versão). A mesma tática utilizávamos para afanar frutas, ciência esta universal, e atividade que exercíamos com alguma perícia e grande prazer. Embora antes pedíssemos ao dono, humildemente, para nos deixar arrancar algumas frutas – mangas, goiabas e quetais. Em caso de negativa, bem...
14
Capítulo 2 Um assalto à horta do hospício
Iniciemos nosso controverso elenco de encrencas pelo surrupio de gêneros alimentícios, pois quem tem fome tem pressa, asseverava o grande benemérito Betinho. Próximo de nossas casas havia um Hospital Psiquiátrico, de caráter particular, que fazia as vezes de asilo. Era um estabelecimento assentado sobre um imenso terreno, que tinha entre seus domínios, além das instalações principais, uma sinistra casa abandonada digna de filmes de terror, uma pequena capela para velar os mortos do hospital, e um pequeno, mas belo e denso trecho de Mata Atlântica onde coletávamos os deliciosos (tinham gosto de jaca!) coquinhos-catarro, que em outras plagas são conhecidos como jerivá, baba-de-boi e até coquinho-meleca, dentre outros nomes mais ou menos nauseantes. Mas o que fortuitamente passou a interessar-nos, a mim e a Renato, foi uma horta de grande tamanho que eles iniciaram certa vez. Não que fôssemos grandes comedores de hortaliças, mas eram muitas e dava gosto de ver uma roça daquela, tão cuidada e sortida, luminosa como uma aquarela. Tentação feita, nossas almas foram vencidas. E certa manhã de sol retumbante foi a escolhida para nossa incursão. No assalto a tal horta, seguimos o já cansado script de sempre: Renato avançava enquanto eu ficava de vigia, acocorado sob uma moita. Era quase impossível ver aquele 15
moleque destemido que rastejava qual um perfeito milico, como se tivesse recebido algum treinamento militar. E, de mais a mais, apenas os pacientes – todos doentes mentais acometidos das mais diferentes patologias – ficavam tomando sol num dos calçadões da parte do hospital que dava para a horta. Não teriam mente, olhos, interesse ou consciência para nos notar. Bem, assim pensávamos. Quando o moleque esperto estava já na borda da horta, arrancando pés de alface e couve que estavam à mão, não é que um dos “loucos” – que de louco devia ter muito pouco – deu o alarme? E os demais que com ele estavam principiaram a berrar, num coro alucinado: “Pega ladrão! “Per-rega ladrão! Perrr-rega ladrão!” E daí, poderia ser dizer. A horta ficava num ponto exterior ao asilo/hospício, que dava justamente para a região de onde viéramos, e para onde nos bastava fugir. Mas o problema era que o hospital tinha um “zelador”: Seu Ciro, que estava sempre a postos com sua espingarda de sal grosso nas mãos, e os dois cachorros vira-latas que, se sozinhos eram apenas observadores passivos e desinteressados, quando estavam com ele se tornavam verdadeiros dogues de caça. E eles prontamente se apresentaram, os perdigueiros e seu senhor: O bruto do seu Ciro parecia um lorde inglês, já com cabelos brancos, mas correndo feito um adolescente, com aquela espingarda fazendo fogo e atiçando aqueles cachorros de dúplice proceder... Foi uma corrida infernal, mato adentro, ignorando trilhas e abrindo novas no peito, até chegarmos ao rio – o rio Alcântara, que corta quase que meio município de São 16
17
Gonçalo – e que separava a “nossa área” da micro região que chamávamos apenas de “morro” – na verdade um enorme trecho composto por um encadeado de montes, onde a mata de cerrado e chaparral se intercalava com bolsões de Mata Atlântica, micro região no meio da qual estava justamente o tal Hospital. Corremos como desvairados, mas o tinhoso do Renato, ou Nato para os íntimos, não largou nenhum dos muitos pés de alface que confiscara... Era um signatário da velha máxima brasileira: “Vergonha é roubar e não conseguir carregar”. E aplicou mais uma vez uma lição a que eu tive que me submeter infindas vezes: Ele corria mais do que eu, não olhava para trás e muito menos para mim. Nem um “corre, mané”, ele soltava. Apenas corria, firme em sua ideologia do “cada um por si” e ai de mim se não percebesse a fuga – fosse lá do que fosse – e não partisse em sua traseira...
18
Capítulo 3 Sexto Sentido
Isso me leva a recordar de outros episódios, agora divertidos, pelos quais passei. Eu ainda não relatei, mas Renato possuía algo que perturbava minha mente que, embora infantil, era leitora de enciclopédias e já manifestava a tendência racional-científica que fundou a frio nosso mundo tecno-científico e a tudo manieta, retifica e constrange. Esse algo era o que se costuma chamar de “sexto sentido”. Sim, aquele rapazinho que jamais entrara numa escola (não havia lei, ou a lei não tinha força que obrigasse a mãe dele, Bebete, a matriculálo), possuía um sinistro sexto sentido que o avisava, geralmente com apenas alguns segundos de vantagem, de que algo de ruim estava prestes a acontecer; que a jangada pirata iria naufragar, a aventura do momento estava em vias de dar errado. Relato uma das mais prosaicas e inofensivas destas vezes em que tal sentido do malandrim nato se manifestou. Certa noite, ele me chamou para “darmos uma espiada” em frente da casa de uma certa menina, uma linda negrinha, que estava há pouco tempo no bairro. Nato estava enamorado... Acontece que a tal menina morava numa casa, a de sua avó, em que infelizmente (isso sempre é uma infelicidade quando acontece com a mulher de quem você gosta) 19
moravam muitos homens – eram os tios dela, todos solteiros e ainda albergados em roda da saia da matrona. Pois bem, lá estávamos nós, acocorados no mato em frente daquela casinha de telhas francesas e sem cercas. A rua estava deserta, pois o bairro naqueles tempos era menos povoado e a hora já ia avançando noite adentro; podíamos divisar, dentro da casa de janelas de madeira abertas, o trânsito dos moradores, inclusive da princesinha de ébano. Eu olhava para a rua de quando em quando, pois nossa atitude, embora de intenções inocentes, era também suspeita. Foi quando Renato, fulminado por seja lá que tição do céu ou do inferno, entregou o oráculo: “Tô com a sensação de que vai acontecer alguma merda...”. “Que nada, a rua tá deserta e nós não estamos fazendo nada”, respondi. Um breve momento de indefinição foi suspenso pela aparição, ex nihilo, sim, direto do nada, de um dos tios da menina, bem na nossa frente. Como aquilo se deu? E era justamente Elias, o mais “brabo” dos moradores da casa. Renato foi apanhado pelo braço, e tomou uma salva de cascudos. Eu também levei o meu e me dei por satisfeito – bem, em geral eu ficava para trás e arcava com as consequências sozinho. As explicações sobre os puros sentimentos do jovem Romeu, ao invés de tocarem o coração de Elias, tiveram o resultado oposto, enfurecendo ainda mais o valentão. Se tivéssemos corrido quando o oráculo deu o alarme... Carimbados de cascudões e devidamente jurados em caso de reincidência em tal “crime” – simplesmente observar o evolar de uma virginal donzela, veja você – 20
partimos para nossas casas, contrariados por mais uma injustiça da vida. Renato jurava “vingança” quando crescesse. Quanto a mim, bem, em boa parte de minha infância, receber um cascudo era como receber um bom dia.
21
Capítulo 4 Sobre paus, pedras e sopapos
Parte do lecionário dos meninos, numa comunidade pequena mas algo hostil como aquela, assim como acontece e aconteceu em quase todo o mundo e ao longo de toda a divertida história humana, era dedicado ao combate corpo a corpo. Em minha nascente biografia, esse foi um problema que demorou para ser remediado – eu era bem mais bobo que a maioria dos moleques da rua. Ao menos dos moleques daquele trecho do bairro, um pouco mais barra-pesada ou, termo melhor, pragmatista, mas foi ali que resolvi fincar os paus de minha mal-armada barraca. Não tive irmãos homens, apenas irmãs; pior: não tive primos próximos, apenas primas, muitas primas. Meu pai, bom homem, arauto da pacatitude, nunca foi de briga. Meus três tios que moravam no bairro eram muito ocupados, e dois deles tinham deficiência numa das pernas – resquícios de poliomielite, sofrida na infância ainda nas Minas Gerais. Mesmo se quisessem, a vida cedo os impedira de fazer carreira de sucesso no rude mundo da trocação de chutes e socos. Ou seja: Eu nem tinha quem me defendesse, nem tinha quem me ensinasse o ofício. Para casos assim especiais, a vida tem uma solução terminal: tentativa e erro, ou: aprender a bater por osmose, depois de muito apanhar. Ou nunca aprender. Bem, eu custei, mas aprendi. 22
Desses meus doutrinadores de rua, novamente Renato foi o primeiro e o maior deles: vez por outra eu era espancado, para recalibrar meu entendimento da hierarquia que rege o cosmos. Brigávamos num dia e, no dia seguinte, lá estava ele no portão de minha casa, gritando: “Ô Sâmi! Sâââ-mêêê!!! Ô Sâââmiii!!! Bora catar ferro-velho!” E lá ia eu, despudorado, mais perdoador que o futuro cristão que eu haveria de ser. Mas nem tudo eram murros colecionados. Enquanto não aprendia a utilizar os punhos, desenvolvi um mecanismo de defesa, dissuasão ou vingança que acabou se tornando “lendário” nas cercanias: virei franco-atirador. Funcionava mais ou menos assim: Você, mais forte do que eu, me aplicava uma pancada, me constrangia com alguma ameaça, ou mesmo me lançava alguns desaforos e impropérios numa dose acima do que eu estava disposto a metabolizar. Ato contínuo eu, sempre num sinistro e sintomático silêncio, me recolhia à minha insignificância pugilista e existencial, dava vinte passos, sempre lentos, quase tristes. Cabeça baixa, expressão contrita, era só um garotinho fracote recolhendo-se à convalescença aconchegante no lar. Em seguida, cumpridos os passos cerimoniais, garantia de segurança em caso de fuga, num movimento rápido e contínuo, eu apanhava uma pedra do chão e me virava atirando-a. Era um agachar-apanhar-atirar sem pausa, manobra tinhosa, um giro rápido e perfeito. E enquanto aquela pedra, aquela Nêmesis de minha vingança cruzava os ares, outra já estava sendo recolhida e disparada. Antes das armas de fogo, a metralha já pipocava na favela... 23
Foram tantas as pedras despachadas (eram tempos conflagrados!) que adquiri alguma especialização, e aquilo passou a ser temido na rua. Eu sou um tipo esquisito ou incompleto de ambidestro: escrevo com a direita, mas uso a mão esquerda para atirar objetos. Lenda reza que minha mãe, a melhor mãe do mundo mas acabrunhada pela educação de roça das profundas Minas Gerais, ao perceber minha tendência inicial para a canhotice, vendo que eu rabiscava com a pata sinistra ao invés da destra, forçou a barra para que eu me corrigisse, que aquilo de escrever com a esquerda era coisa do capiroto. Ah, Minas Gerais, misto de poesia e sensaboria, que tantas fábulas pariu!!! Mas voltemos ou avancemos até à idade da pedra: Se no futebol, que àquelas alturas detestava, eu era ninguém, e minhas duas pernas eram cegas, no tiro ao alvo eu era o canhotinha de ouro, artilheiro isolado por quatro, cinco anos. Magoei algumas carnes, rachei uma ou duas cabeças – com duras consequências. Parte da fama do Sammy Maluco foi alicerçada no melhor da alvenaria: pedras de brita e lascas de tijolo. Mas a rua tinha uma máxima, um provérbio cruento, de cuja verdade nem toda a perícia balística me safaria: Nem só com paus e pedras se defenderá o homem: O punho será sua bandeira.
24
Capítulo 5 A fundação do MMA numa comuna gonçalense
Demorou bastante para que eu aprendesse a devolver com mínima perícia os golpes que levava. Nesse curso fui ajudado por algo em que nosso bairro foi o pioneiro. Sim, se hoje somos o país do MMA, as Mixed Martial Arts (Artes Marciais Mistas), naquelas alturas ou profundezas da década de oitenta os Gracies talvez ainda nem sonhassem em criar esta modalidade. E nosso bairro já contava com uma, deixe-me celebrar em maiúsculas, ARENA COMUNITÁRIA DE COMBATES. Mas, como era isso? Nosso rio Alcântara era fonte do ganha-pão de alguns dos moradores da comunidade. Efetivos ou esporádicos, muitos moradores defendiam seu trocado tirando areia do rio. Sim, sim, não havia IBAMA que os impedisse, e a fonte parecia mesmo inesgotável. Até eu, em infância, certa vez me somei a um mutirão de moleques para tirar areia do rio em troca de... tomar banho numa grande piscina, num casarão onde certo conhecido era caseiro. Sim, sim, também não havia Conselho Tutelar que nos salvasse, e nossos pais de nada sabiam. Era um tempo em que o moleque ia para a rua de manhã, voltava sujo para almoçar, e antes que a mãe desse por ele ou terminasse de desfilar a bronca, o brucutu já se evadia para a rua de novo, vadiando até o anoitecer. 25
Amigos, ao poder da pá, da enxada e da chibanca, não apenas a areia era o recurso natural explorado pela comunidade. A areola, com sua fina textura marrom, utilizada em emboços, na massa para assentar tijolos e também como terra para plantas, era outro recurso lucrativo, esse escavado dos muitos terrenos baldios. Acontece que um empreendedor, um inovador desconhecido do bairro, teve a suprema ideia de matar dois coelhos com uma só bordoada. Ou pazada, ou enxadada que seja. Na margem do rio, em certo ponto, ele começou a escavar areola, que era prontamente vendida. Quanto ao espaço que ficara escavado, um imenso retângulo, ele o usava para jogar a areia que arrancava do rio – o que era facilitado pela diminuição do patamar da margem, já escavada. Assim ele conseguia produzir os dois “gêneros” num mesmo local. O inusitado foi que, numa feliz ação do destino guerreiro que rege a espécie humana, uma cheia do rio – que sofria cheias regulares – submergiu aquele trecho. Quando as águas desceram, uma surpresa nos agraciou, presente dos deuses da guerra: Aquele grande “quadrado” escavado às margens do rio fora ocupado completamente por areia – mas não era a areia mais grossa ou cascalhenta que costumava ser tirada do rio para a venda: era uma areia mais fina, como a areia de praia. Aquele vácuo, atingido pela cheia, serviu como uma espécie de baía que, com o fluxo do rio, acumulou apenas a areia mais fina, a que conseguia flutuar em suspensão nas partes mais altas 26
do fluxo de água da enchente. Assim, ao baixarem as águas barrentas, somente a areia fina fora “capturada”. Aquele lugar era amplo, mas insuficiente para o jogo de futebol, a famosa pelada – e para isso a comunidade já contava com um campinho mais acima do morro. E as areias eram muitas. Assim, uma solução foi encontrada: O areal passou a ser campo de honra – não, não um cemitério – mas campo onde as honras entravam em disputa. E assim as briguinhas entre as crianças passaram a ser resolvidas ali – do outro lado do rio (na margem contrária donde havia moradias), longe da vista ou ao menos da ação dos pais. Todo dia tinha pancadaria, não apenas “à vera”, mas “à brinca” também. Um contra um, dois contra dois... Até battle royale (todos contra todos) foi experimentada em nosso caldeirão. César, Septímio Severo, Caracala, qualquer imperador romano exultaria ao ver aquela pequena e mambembe escolinha de gladiadores gonçalense! E, por Deus!, quanta porrada tomei ali!!! Aquilo se tornara também um campo de sadismo para alguns dos moleques mais velhos, que incorporavam aquele espírito universal, o do sargentão de caserna: Eles estimulavam os combates, impediam a fuga dos desertores e ainda puniam os rebeldes – apanhando-nos pelos membros e balançando-nos como fardos que, após ganhar força cinética, eram lançados de costas – ou como fosse, Deus nos ajudasse – sobre a areia. Antes do MMA ser criado, antes das artes marciais mistas serem efetivadas no gosto nacional, a Beira Rio já 27
formava – a ferro, fogo e lágrimas empapadas com areia – seus campeões.
28
Capítulo 6 Meganha, raça do cão
Uma das aventuras mais divertidas – hoje é tudo muito divertido – que passei em minha vida de coletor de reciclagem com Renato foi assim: Num belo e ensolarado dia, enquanto transitava sozinho por um trecho da RJ 106 um pouco distante de nossas casas, já no final do bairro Arsenal, Renato viu, desperdiçado ao fundo de um riacho ou valão que cortava a rodovia, um eixo de automóvel. Sim, cinquenta ou mais quilos de ferro estavam ali, jogados fora, sem marca nem dono. Acontece que o ferro-velho em que vendíamos os frutos de nosso trabalho era relativamente perto daquele ponto – talvez a menos de um quilômetro... Bem, Renato não conseguiria levantar aquele peso lá de baixo do riacho até a altura do asfalto, pois eram quase três metros de pequena e íngreme ribanceira. E mesmo que fossem 30 centímetros: Uma criança não suportaria aquele peso. Foi já com um plano em mente que Renato chegou na Beira Rio. Após o relato, entendi que não poderíamos carregar aquilo sozinhos. Pergunta daqui, chama dali, e nenhum dos “tradicionais” catadores se dispôs – ou tinha disponibilidade – a ir. Por fim conseguimos convencer dois primos, os “amadores” Rodrigo e Andinho, a nos acompanharem naquele garimpo. Conseguida uma corda, sem a qual não poderíamos içar o butim, partimos em marcha de quase três quilômetros até o tal valão. 29
Chegados ao local, o diligente líder da expedição logo desceu para tentar amarrar a corda em volta do grande eixo. Agora restava a parte mais doce: Suspender todo aquele peso “no braço”, numa encosta íngreme. Enquanto nós três puxávamos com tudo o que tínhamos, Renato empurrava o grande troço, que vinha lento e agarrando-se vez por outra nas ramas de mato, como quem resiste a sair de seu cemitério pacífico. Acho que nunca nenhum dos quatro fizera tanta força na vida. Conseguido o suado intento, agora era fácil: Após a pausa para respirar, bastava arrastar asfalto afora aquele pedação de ferro, até o ferro-velho. E lá fomos nós. A (des)graça da aventura aconteceu quando, poucos metros após o tal riacho, passamos em frente a uma loja de telhas coloniais e pedras ornamentais. Lá de dentro daquele estabelecimento decorativamente burguês, um indivíduo barbudo gritou, espavorido: “Ei! Ei! Cheguem aqui!” Suspeitosos, e ocupados que estávamos arrastando aquele fardo, fizemos menção de seguir nosso caminho. Mas o indivíduo veio ao nosso encontro, e nos fez arrastar o peso para dentro do “quintal” da tal loja. Em seguida, iniciou um interrogatório digno de filmes de mocinho e bandido. Queria saber onde conseguíramos aquele eixo, afirmando peremptoriamente que era de um carro roubado. Queria informações do roubo. Explicamos que ele estava “jogado fora” dento de um valão ali perto, talvez há anos já. Mas o elemento, apresentando-se agora como policial, não se satisfazia. Apertava-nos, queria confissões, queria saber se conhecíamos ladrões e já nos tratava, moleques de dez e onze anos, como tais. 30
O agravante que enfurecia o meganha era Renato, que não segurava o riso durante aquele interrogatório, fato que nem eu compreendia. Os outros dois expedicionários, Andinho e Rodrigo, esvaíam-se em lágrimas, achando que seríamos presos, e imaginando a surra que levariam em suas casas. Não posso afirmar com certeza, mas talvez até eu tenha chorado... Resumo da ópera bufa: O pilantra supostamente a serviço da lei, após nos explicar que aquilo era de um carro roubado e que todas as peças possuem um registro numérico, disse que não poderíamos de maneira alguma vendê-la, e nos obrigou a arrastar o eixo novamente até o riacho, e jogá-lo ribanceira abaixo. Embaralhados em alívio e revolta, fizemos isso, enquanto o canalhinha nos observava, de frente à loja – que, passados quase trinta anos, ainda existe. Voltamos para casa, uns desiludidos, outros aliviados, e todos com calos nas mãos, lanhadas por aquela maldita corda, por aquela maldita ideia de Natão, o elucubrador de ideias... Terá nascido aí, em arquétipo, minha ojeriza contra a classe policial? Quem sabe.
31
Capítulo 7 Papita e o atoleiro
Se o assunto é ferro-velho, vamos falar de outra aventura, uma aventura não feérica (fantasiosa), mas ferrada de apertos e perrengues. Preciso informar, por cortesia ao entendimento do leitor, que Renato sempre tinha um argumento para me convidar a ir até tal ou qual lugar, em geral longínquo, em busca de ferro-velho: “Passei por lá e há muita coisa, muita coisa!”. O canalha não havia passado por lugar algum, mas eu sempre caía na conversa. Deve ter sido meu primeiro contato direto com um discurso político! De certa feita, convidou-me a dar um rolê pelo subbairro conhecido como Tribobó City (não confundir com Tribobó, bairro de fato e direito, do qual o tal Tribobó City era apenas um dos pedaços de chão). Sabe-se lá por que cargas d’água ou de cobres, Renato convidou para a peneira um outro catador esporádico, Papita, a quem chamávamos também e simplesmente de Mudinho, em virtude dele ser (quase totalmente) surdomudo. Papita era um desses personagens folclóricos: Você precisava de tempo de convivência para passar a entender os grunhidos que ele soltava. Era maior do que nós, e a vida na favelinha já havia nos ensinado que estar com um maior é estar submetido, estado péssimo para livres-andarilhos e anarco-presepeiros como nós. 32
Amigo leitor, deixe-me abrir um parêntesis: Já terá sua distinta pessoa se servido, em seus momentos de intimidade, dos papéis higiênicos e toalhas de papel Cotton, Deluxe, Klass, Coquetel? Que tal as fraldas descartáveis Looney Tunes? Eles e muitos outros bons produtos são fabricados pela empresa Carta Fabril, que até pouco tempo atrás era localizada aqui, em Tribobó City, na em sonhos linda São Gonçalo. Foi pelos matagais e terrenos baldios circunvizinhos dela que fomos nos aventurar, em busca de alumínio e cobre. Afinal, Renato passara por ali e os vira... Amigos, outro parêntesis, pois precisamos aproveitar a Literatura para isso: Naqueles tempos, num córrego que cruzava dos fundilhos desta tal empresa, era descarregado um líquido colorido, por vezes azul, por vezes verde, que se dirigia diretamente para o já citado rio Alcântara. Poluição pura, sem filtros nem firulas. Pior: Sem saber direito do que se tratava, e acostumado àquela vida de “bravuras”, certa vez entrei no trecho do rio Alcântara que recebia aquela química toda, venenosidade que lhe mudava a cor daquele ponto em diante. Graças a Deus não me aconteceu nada. Bem, sabe-se lá. Feita a denúncia, voltemos à aventura. Nossas andanças por Tribobó City (parece nome de cidadezinha de filme de Faroeste, hum?) redundaram em NADA, coisa que por vezes acontecia quando eu seguia as projeções de Renato. Mas havia um outro problema, esse sim, novo: Papita, que não vira nada de “curpiu” – assim ele chamava o alumínio, em sua diferenciada língua de mudo. O bruto murmurava, e pode o leitor imaginar o que seria um mudo “falante”, 33
irritado até os infernos, bradando e gesticulando como uma matrona italiana?! Papita ameaçava nos aplicar fartas cargas de cascudos, caso nada encontrássemos. Afinal, o fizéramos desabalar-se de sua paz para nos seguir na peneira em terras longínquas e inóspitas. Meus queridos, tudo que é ruim pode piorar, e aquele dia estava funestamente atípico. Realmente não havia NADA nos lixões dos terrenos baldios. Era como se algum outro catador houvesse passado por ali, momentos antes. Bem, resolvemos então nos aventurar pela parte de trás da tal empresa de papéis. Era um misto de matagal e aterro. Havia chovido bem no dia anterior, e eu temi entrar num lugar novo para mim, justamente quando ele aparentava formar tanta lama. Mas avançamos, sempre sem nada encontrar, com um olho nos caminhos e outro no furioso Papita, sempre prestes a explodir. Chegamos então a uma pequena ribanceira, da qual não poderíamos descer sem nos sujarmos todos de barro. Era preciso pular lá para baixo, para continuarmos nosso avanço. Olhamos para a terra desnuda, molhada pela chuva, e nos pareceu fácil, coisa de dois metros de altura, para nós que pulávamos de até cinco, sem quebrar as perninhas. Eu e Renato cometemos então o principal erro do dia: Pulamos ao mesmo tempo, cada qual numa direção. O resultado foi surpreendente: Aquele amontoado de terra era na verdade um lamaçal de aterro encharcado, um amontoado tão fofo que, já no impacto, afundamos até a cintura na lama. 34
35
Pare um pouco para imaginar: crianças de onze anos, corpos fracos, num lugar desconhecido, presas até a cintura em lama movediça. Sem forças para sair, e pelo contrário: Quanto mais força fazíamos, parecia que mais afundávamos... Bateu a brisa do desespero, logo transfeita em vendaval. Chorei, confesso que chorei. Papita, do alto do barranco, apenas observava a cena. Por isso chorei: Pensando naquela velocidade hipersônica do medo, imaginei que ele, furioso, nos abandonaria ali, longe das vistas de qualquer pessoa, para morrermos como num maldito filme de meu herói, o também catador e ladrão de ferro-velho Indiana Jones. Mas Papita pulou – E pulou, estranhamente, num lugar onde quase não afundou. Em seguida, aproximando-se devagar, puxou as mãos de Renato, que a muito custo conseguiu desprender-se da lama pegajosa. Após, foi a minha vez. Consegui sair com grande penúria, mas um de meus chinelos ficara preso lá no fundo da lama, numa fundura que meus braços não alcançariam. O inesperadamente generoso Papita, adiantando-se, enfiou seus longos braços no lamaçal e retirou minha sandália. Conseguimos por fim contornar aquele matagal, e sair daquele lugar miasmático. Já na pista, totalmente sujos, sem sequer uma grama de cobre ou alumínio nas mãos, Papita cobrou o seu preço: Cada um de nós tomou uma sequência de dez ou mais cascudos em cascata. Bem, ficou barato: sempre está barato quando se escapa andando sobre as próprias pernas. Estávamos até agradecidos. E nunca mais chamamos Papita para nada... 36
Capítulo 8 Ri por último quem ri de bolso cheio
As catanças de ferro-velho abarcavam, a partir de nosso sub-bairro Jardim Nazareth ou Palha Seca (a “fronteira” entre os bairros de Tribobó e Arsenal) diversos outros bairros: No poder arcano da canela, alcançávamos Jockey Club e Anaia, Capote e Arsenal, chegando até a Rio do Ouro e Maria Paula, quando não Colubandê e Bairro Almerinda. Era muito chão! Naqueles finais da década de 80, o bairrismo não era armado pelo tráfico como depois tornou-se, mas existia: Os daqui não se misturavam com os de lá. Mesmo que os de lá fossem os dali, da rua seguinte à sua... Nessa época de “galeras” e entreveros, surgiu certa feita aqui na Beira do Rio uma dupla de irmãos folgazões, ou folgadaços mesmo. Metidos a bambas, vinham na intenção de namoricar as meninas da área. Bem, as NOSSAS meninas. Na época eu não estava realmente interessado em namoros, mas a marra daqueles espertões incomodava, tanto a mim quanto a muitos outros. Mais fortes que eu e Renato, me lembro de uma feita em que, em plena e nossa área, os sacanas nos intimidaram com sinistras ameaças. Acuados, num tempo em que eu ainda era um péssimo ou inútil boxeur de rua, colocamos a viola no saco e ficamos quietinhos... Eles vinham de uma área próxima, uma espécie de subbairro a que chamávamos de “Buraco Quente”. Acontece 37
que este mesmo Buraco Quente era área fiel de nossas coletas, pois havia lá um enorme lixão comunitário, instalado numa espécie de cratera. E não é que foi numa dessas andanças naquelas paragens que acabamos descobrindo em que casa moravam os tais Romeus valentões? Tempo passou, e belo dia fomos nós nos abeirando da casa deles, cuja cerca de arame farpado, já banguela, coitada, fazia lado a um terreno baldio, coberto por moitas e arbustos. Apenas batíamos aquele terreno em busca de algo, inchados de inocência, quando, lá ao fundo do tal terreno e fronteiriço à cerca da casa dos sacanas, percebemos uma enorme caixa de ferro – um desses baús de geladeiras antigas. Ao nos acercarmos com cuidado, a falha dos valentinos foi descoberta: Os trouxas deixavam, do lado DE FORA de seu quintal, um depósito de reciclagens composto apenas de alumínio, cobre, chumbo e metal, um depósito repleto. Alumínio já bem amassado, fios de cobre já descascados ou queimados, com sabor de mel. Não era preciso dizer mais nada, e Renato nem tentou. Apenas sorriu cinicamente; e Deus, como sinto falta daquele sorriso!, eu entendi o que faríamos. Nas semanas seguintes, aplicamos sobre aqueles canalhinhas nossa velha e experimentada tática do mordee-assopra: A cada semana pegávamos uma pequena “carga” das mercadorias, para que as vítimas não sentissem o impacto. A marra daqueles garotões, que depois acabaram “expulsos” de nossa área pelos moleques maiores, nós a 38
consumimos nos sabores Chocolate e Flocos dos sorvetes da Kibom, nossos preferidos... O dono da padaria sorria quando entrávamos, sujos e amarrotados, mas cheios de dinheiro de nosso suado trabalho – e nossa justa & vingativa rapina!
39
Capítulo 9 O sítio (mal-assombrado) de Seu Pedro
Alguns dos melhores dias da infância aqui no Jardim Nazareth foram passados no Sítio do seu Pedro. O sítio era na verdade de um japonês misterioso – do qual seu Pedro era o caseiro. Ou semidono, pois o tal japonês quase nunca aparecia. No grande sítio, tomei o primeiro contato – não numa gôndola de supermercado, não numa sacola de compras de meu pai, mas pegando nas mãos, no próprio pé – com diversas frutas como jambo, carambola, jabuticaba. Até um pé de caqui havia, e curiosidades como uma árvore de cortiça. Mas a principal “lavoura” ali eram as mangas: Dezenas de pés, um carnaval, um tsunami, um apocalipseragnarok-mahapralaya de tanta manga. O sítio também possuía um equipamento esportivo misterioso para todos nós àquela época: Uma quadra de tênis, em saibro, e isso mais de década antes de Gustavo Kuerten popularizar nos meios de informação o que era o tênis, e, claro, o que era uma quadra de saibro. Seu Pedro e sua família eram em geral simpáticos e tolerantes – deixavam, a quem pedia com educação, entrar no sítio. Havia regras básicas: Não podia quebrar galhos das árvores, e nem arrancar frutas e deixar no chão (pois limpar aquela imensidão era uma tortura, e desperdiçar comida, como hoje, já era duro pecado naquela época). O acesso livre dependia também da época 40
do ano e de que temporada/ano era aquele. Tinha momentos em que não havia ainda mangas maduras, ou sequer manga alguma, nos pés. Mas, nos melhores anos e na alta temporada, já vi aquele velho senhor negro e franzino, de fala mansa e pausada, abrir covas profundas de uns quase dois metros de profundidade por dois de largura e bem uns quatro de extensão – ou seja, suficiente para sepultar quase um elefante! – apenas para jogar mangas podres (uma tonelada? Duas? Três!?), pois não havia o que fazer com tanta manga. Nem a população do bairro dava conta. Bem, independentemente de haver mangas e outras frutas ali ou não, a molecada amava entrar no sítio e tentar peneirar alguma coisa. Por vezes a solicitação de entrada era negada, e então os mais afoitos não se faziam de rogados, adentrando no sítio por um dos muitos pontos de acesso “encobertos”. Foi numa dessas abordagens ou penetrações nãoautorizadas que me vi, em companhia de Renato e mais uns quase quinze garotos, dentro do sítio, onde entramos lá pela extremidade oposta à daquela em que ficava a casa de seu Pedro. Ah, como o tal “seu” Ciro do “hospital dos malucos” citado em capítulo anterior, seu Pedro também tinha sua espingarda de sal, e miseravelmente um cachorro que, de manso virava perdigueiro quando atiçado por seu dono. Sinistro e opressor padrão!!! Assim, era preciso entrar no sítio bem “na encolha”, e estar atento. Ali estávamos todos embaixo de um pé de manga espada que, temporão, tinha já suas frutas. A árvore ficava 41
em linha direta com a parte mais sinistra do sítio – Um pequeno casebre abandonado, construído ao lado da tal quadra de tênis. A casa era habitável, e não entendíamos por que ficava vazia, até que um dia um dos moleques ali daquela área – sim, a cada rua, poucos metros de distância, havia uma “galera” mais ou menos independente e, quando queria, hostil – nos informou que aquela casinha era mal assombrada. Para uma criança, aquela informação de mau agouro caía nas costas como uma jaca de inquestionável certeza e medo... A hora era quase a do almoço, por volta das 11 da manhã, com o sol a pino. Foi quando o sexto sentido de Renato se manifestou, com garbo e brilhantismo. Me cutucando e a alguns outros moleques, ele apontava para um enorme pé de tamarindo, que fazia sombra sobre parte da quadra de saibro. É ridículo relatar isso e, acredite, foi ridículo naquele próprio momento: O que vimos foi uma sombra – sim, um ente perfeitamente translúcido – segurando uma vara de bambu e cutucando a árvore, como quem tranquilamente arrancasse tamarindos para chupar. Não é piada, nem invenção. Eu VI – foi a única vez em minha vida que vi alguma manifestação do sobrenatural – e olha que hoje e há muito tempo sou um crente pentecostal, e alguns de nós veem com certa rotina coisas do arco da velha... Mas não eu. Aquela visão inacreditável, surpreendente, inoportuna, cozida e fervida em nonsense foi apontada a um por um dos moleques ali presentes. Todos viram. A sombra, 42
impassível, continuava a lentamente mover aquele bambu. Após uns breves segundos de incredulidade, de tentar divisar se aquilo era aquilo mesmo, a ficha caiu. O que se seguiu foi a mais espetaculosa corrida com obstáculos que o bairro Palha Seca já viu – e ele viu muitas! Todos voamos na direção contrária à sombra, de encontro à cerca de arame que nos daria acesso à salvação que era a rua. A cerca, banguela, tinha um espaçamento entre os fios de arame que permitia a uma criança ou jovem não muito alto passar agachando-se – devagar, de um a um, claro. Mas naquele momento, moleques jogavam-se pela abertura como se fossem mísseis ou torpedos, pouco se importando com os resultados. No empurra-empurra desesperado – alguns, mais sensíveis, gritavam de terror – muitos tentavam passar ao mesmo tempo, embolando-se e lanhando-se nos arames da cerca. Na minha vez, a pressa e um baita empurrão que levei fizeram minha camiseta ganhar um belo rombo naqueles arames... Como disse, foi a única vez em minha vida que vi um fantasma, ou demônio, ou um alienígena que seja, pois como entender um diabo que, dentre o universo de coisas passíveis de entreter um espírito, se preste a arrancar tamarindos? Doravante e até a adolescência, jamais entrei novamente naquele sítio sozinho. E, mesmo acompanhado, evitava aquela casa mal-assombrada e aquele pé de tamarindo como o cramunhão evita a cruz! Anos depois, infelizmente o sítio foi vendido. O comprador foi um jogador de futebol do Flamengo, o Luiz 43
Alberto, que murou o sítio e o transformou num tipo de complexo esportivo, alugando quadras para peladeiros de fim de semana e fazendo festas para seus amigos. Seu Pedro não ficou desamparado: Sua casinha e parte do terreno lhe foram concedidas, justificadamente pelos serviços prestados. E, neste momento em que escrevo, o espaço foi novamente vendido, e agora um enorme condomínio de apartamentos populares se ergue naquele lugar, já prontos para a habitação. Os novos moradores provavelmente jamais saberão de tudo o que já aconteceu naquele terreno em que habitam... *** *** *** *** Um parágrafo para acrescentar um causo sobre aquele lugar. A fama de mal-assombrado do tal sítio era de conhecimento corrente de boa parte da população do local. Durante a noite, a maior parte da rua que fazia frente ao sítio mergulhava na escuridão, pois a iluminação pública não chegava até ali. Em frente a este sítio, cabe dizer, havia outro sítio menor, o Cariri, este murado. Ou seja: Por um bom trajeto, aquele que ali passasse de noite teria de um lado as muitas e sombrias árvores do sítio do seu Pedro, e do outro, um inoportunamente longo e frio muro. Nenhuma casa alcançável, nenhuma vida, nenhum refúgio ou lâmpada de 60 watts. Era apavorante! Certa noite, aproveitando-se da fama do lugar, numa época em que não havia muita coisa pra se fazer, um indivíduo – que hoje é um seríssimo pastor evangélico, o Gilson – subiu numa das mangueiras do sítio que margeavam a rua e, lá de cima, na mais profunda 44
escuridão, balançava os galhos e emitia sinistros gritos, a cada alma desafortunada que por ali passasse. Muita coragem embolada com muita safadeza do então jovem Gilson! Já na rua, era tanta correria que aquele chão ficou compactado, de tanta patada de medroso em fuga!
45
Capítulo 10 As doces mangas – e o muro – do velho Lauro
Como eu disse, uma das mais doces atividades da idade, figurada e literalmente, era apanhar frutas – dentro ou fora da legalidade, pois à época a fronteira entre tais picuinhas era muito sutil. Em linhas paralelas, nosso pequeno sub-bairro era formado por apenas quatro longas ruas. A primeira, margeando o rio Alcântara, era a Manoel Bandeira, nosso terno e frágil poeta. Em seguida vinha a central e principal, honrando o grande Pastor Martin Luther King, e para cima as outras duas. Me lembro de certa feita em que eu e Renato fomos em missão sigilosa até a última rua, que era pouco movimentada. Havia um terreno desocupado, protegido apenas por uma cerca de arame (ou seja: protegido pelo vento...) e, dentro dele, jazia solitária e imensa uma mangueira de manga espada. Ao lado do terreno ficava a casa do proprietário, essa medievalmente murada: Era o irmão Lauro, por sinal pai de uma menininha que foi minha primeira paixão platônica. Assim, vendo que o tempo era propício e as mangas convidativas, lá fomos nós naquela manhã surrupiar algumas delas. Eu e Renato já tínhamos certo know-how na área: Na casa ao lado costumávamos roubar cajás... Rua deserta e silenciosa, penetramos no minifúndio e 46
principiamos a tacar paus e pedras naquelas alturas, tentando derrubar algum favo daquele mel alaranjado, rainha das frutas vinda da Índia. Em meio da faina naquela dura lavoura, nem percebemos quando o Lauro, um moreno com cabelos lisos como um índio, adentrando o clube dos obesos, “brotou” já dentro da cerca. O sexto sentido de Nato falhara, e nossa captura era iminente! – Moleques safados, vou pegar vocês, vem cá! – e o brutamontes avançava, senhor de seu direito, afinal não pedíramos para colher os frutos. Geralmente Renato percebia a presença hostil e imediatamente desabalava a correr em silêncio: Jamais dizia sequer um “corre, Sammis”. Jamais! Eu que me virasse. Ou ficasse de boi pras piranhas. Mas neste dia ambos fomos pegos em perfeita surpresa, e corremos juntos para a única escapatória: O muro em tijolos nus que separava o terreno de Lauro da casa ao lado. Tal casa não possuía portão e o melhor, por seu quintal podiam ser acessadas duas ruas. Não era apenas a melhor rota de fuga, mas a perfeita, criada por Deus para isso. Corremos em direção ao muro e pulamos – juntos, como símios habilitados em parkour, bem antes do parkour ser “fundado” em França. Éramos magricelas, mas o pedreiro que erguera aquele muro falhara em algo: Assim que tocamos nossas mãos no alto do muro, de forma perfeitamente síncrona, algo divertidíssimo – ou triste no momento, mas hoje divertidíssimo – aconteceu: O muro começou a tombar com o nosso peso. Sim, nos agarramos no muro e ele 47
48
“quebrou” quase ao meio. A sincronicidade dos moleques do balacobaco naquele dia foi elevada a nível olímpico, como de uma dupla de salto ornamental: Ainda no ar, caindo para trás com o muro, entendemos imediatamente que seríamos esmagados – nada que matasse, mas alguns ossos poderiam se quebrar e a fuga seria frustrada. Assim, em pleno ar, demos impulso com o pé de apoio no muro que caía, para que nos livrássemos de seu raio de impacto. Amigos, cai em pé no chão, seguido pelo esboroar-se do muro, a coisa de apenas uns cinco centímetros de esmagar meus pés. E os de Renato, que caíra à mesma distância. Pronto, subíramos de nível e já éramos Ninjas da Presepada. Mas não era caso de comemorar o feito. Sem olhar para trás, pulamos por sobre os tijolos e o cotôco de muro que restara, enquanto o bom Lauro – poderia ter sido meu sogro! – multiplicava seu ódio ao perceber o prejuízo com o muro – muro que talvez ele mesmo tivesse erguido... Aquela aventura não teve maiores consequências, pois o tal Lauro, ainda que conhecesse meus pais, aparentemente não me conhecia ou reconhecera, e nem a Renato, senão a notícia teria chegado lá em casa, como tantas chegaram, para alegria da vara de goiabeira e da sandália Havaianas de minha mãe, minhas inimigas figadais.
49
Capítulo 11 A rapina bananal Uma fruta de apelo universal estava entre as mais cobiçadas pelos pequenos corsários de água doce da Beira Rio: A banana. A fruta, oriunda do sudeste asiático e que árabes, portugueses e espanhóis ajudaram a espalhar pelo mundo, dava com alguma abundância ao longo das margens do rio, compondo partes da mata ciliar. O problema era que ela crescia nos fundos das casas e barracos que margeavam o Alcântara – ou seja, possuíam “dono”. Dura palavra! E agora, como roubar uma fruta que era de difícil e o pior, barulhenta colheita? Sim, pois além das pencas estarem situadas a considerável altura, se conseguíssemos cortar todo o cacho – subindo numa árvore paralela à bananeira ou mesmo utilizando uma providencial escada – não tínhamos, crianças que éramos, força nos braços para segurar ou aparar aquela imensidão de bananas. E se cortássemos o cacho, ou mesmo a bananeira inteira, e deixássemos a carga simplesmente desabar no chão, o barulho da queda daqueles reservatórios de potássio sempre despertava os donos. Desgraça pouca, reza o cliché, é sempre bobagem. Tínhamos alguns agravantes. A casa cujos fundos eram mais ricos em bananas – um verdadeiro bananal – certa altura foi ocupada por moradores novos, desconhecidos. Um casal sem filhos. O valete, viemos a saber depois, era marinheiro. 50
A descoberta de que a casa mudara de dono deu-se da maneira mais desagradável possível: Ao lado desta casa, dentre ela e outra, ficava um beco, um beco apartadíssimo, claustrofóbico até, e que só permitia mesmo a passagem de crianças. Aquela era nossa rota usual e mais confortável para acessarmos “a beira do rio” de fato, de onde seguíamos pelos fundos das casas catando ferro velho ou vadiando à esmo. Acontece que ninguém avisara ao marujo de que aquilo era caminho comunitário. O resultado? Por duas vezes, ao tranquilamente passar por ali, fazendo despreocupado barulho nas muitas folhas caídas do bananal – veja, nem íamos roubar bananas, que demoravam para ficar prontas – fomos recepcionados a tiros, tiros de espingarda de chumbinho. Malditas espingardas, onipresentes nos anos oitenta! Por sorte nunca fomos atingidos – ou o marujo-milico era ruim de tiro, ou atirava para errar, buscando assustar a molecada. Aquilo era um agravante. Doravante tínhamos que usar de toda a nossa felinidade, todo o nosso ninjitsu (aprendido nos filmes da franquia American Ninja que lotavam a Seção da Tarde) para passar por ali com o máximo de silêncio possível. Se passar já era ruim, imagine agora para roubar as bananas! Mas você já ouviu aquele outro clichê ou ditado popular que afirma que “a necessidade faz o sapo pular”? Éramos os piratas titulares daquele rio, não seria um anônimo marujo de água salgada, caído de paraquedas em nossa favelinha, quem iria nos impedir.
51
Sabe-se lá quem foi o autor da façanha, o portador da chama de tirocínio roubada dos deuses da rapina, mas uma solução foi encontrada. A ideia primava pela simplicidade, que é sempre a marca, selo das ideias revolucionárias: Munidos de um facão, entrávamos silenciosamente naquele bananal e, sempre à moda dos ninjas ou dos samurais, peritos maiores no manejo da espada, desferíamos um fulminante golpe contra o tronco da bananeira. Aqui estava a sabedoria: O golpe deveria abarcar menos da METADE do tronco, de preferência apenas um terço de sua circunferência. Desferido o silencioso golpe, o espadachim fugia para outro ponto: em geral do outro lado do rio, de cujas margens, escondidos sob as moitas, aguardávamos os poucos minutos para que a mágica surtisse efeito. E era infalível: dentro de quatro a seis minutos, aquele talho, aquela mágoa no frágil tronco da bananeira comprometia o restante de sua estrutura e, sob o peso do cacho de bananas, a arvorezinha tombava a partir do corte, sempre com grande estrondo. O estrondo, claro, despertava o marinheiro, aquele colonizador moreno que viera feitoriar nossas terras livres. O bruto abria a janelinha por onde costumava efetuar os disparos, olhava para todo aquele mato compacto e, não vendo ninguém, tomava por certo que alguma bananeira tombara sozinha, o que não era assim muito impossível. A paciência é uma virtude samurai, uma diretriz mestra dos guerreiros orientais em quem nos inspirávamos. Assim, muitos minutos aguardávamos, antes de atravessar o rio e ir até o nosso cacho. Cortávamos então junto ao talo aquele butim e, segurando um de cada lado daquele 52
pesado botijão de comida, melindrosamente saíamos daquele campo minado. Já do outro lado do rio, era hora de preparar as coisas para livrarmo-nos de uma outra e tinhosa dificuldade: O Pedágio de Dona Maria. Enfiávamos aquele imenso cacho inteiro num desses grandes sacos de farinha, de preferência duplo que era para impedir os muitos curiosos – e alcaguetas – do bairro de perceberem o que transportávamos. E, por cima, colocávamos jornais e o principal: Latas, muitas latas. Assim, para todos os efeitos, era ferro-velho o que transportávamos naquele pesado saco. Avançávamos então até a casa de algum dos meliantes, onde enfim dividíamos o fruto da rapina. Mas, voltando ao pedágio, era o seguinte: Residindo pouco adiante do local do bananal, e bem na rua onde devíamos passar para chegar às nossas casas, morava uma idosa muito pitoresca, daquelas de marcar a história de um lugar, para bem ou para mal. Era dona Maria, afeita ao candomblé, mulher sem papas na língua e com quem, na infância, aprendi a xingar, ao ouvir dia após dia ela esbravejar toneladas de decibéis de impropérios do arco da velha. Éramos vizinhos de fundos e, ainda pequeno, sempre que eu era repreendido pelos palavrões que vomitava como sendo “coisa feia pra um menino dizer”, me defendia: “Dona Maria é velha e xinga, por que eu não posso xingar?” Além de brava e amedrontadora, dona Maria costumava fiscalizar os moleques transeuntes – ou melhor, fiscalizar as “bagagens”. Assim, se passássemos com alguma bolsa de frutas ou algo que lhe chamasse a atenção, ela se adiantava e, dona daquele trecho, 53
esbravejando com sua rouca voz de trovão ou taquara rachada, tomava posse do pedágio, sempre farto para o lado dela... Assim, elaboramos a estratégia do saco de latas. E olha que mesmo assim a velha ainda costumava dizer, com aqueles olhos ao mesmo tempo esbugalhados e aquilinos, nos fulminando por sobre o baixo muro de sua casa: “Estranho isso aí hein... tanto moleque para carregar um saco de lata...” Saudosa dona Maria, matriarca de uma grande família de outras matriarcas, mulheres guerreiras que criaram seus filhos e filhas praticamente sozinhas. A velha não dava mole pra ninguém!
54
Capítulo 12 Jamelões!
Nem só de frutas surrupiadas viviam os sobreviventes da Beira Rio. Havia, no espaço entorno, alguns frutos “ao ar livre”, em terrenos baldios ou na mata. Mas era coisa misérrima, de abalar uma infância. Recordo dois pés de ingá, dos quais o mais próximo dava frutos do mais insosso dos sabores: low carb, sugar free, zero açúcar. Hoje, faria sucesso, mas naqueles idos... O outro, situado numa pequena ravina e ao lado de uma nascente, esse sim dava doces bagas; mas eram sempre poucas, para muitos esfaimados que circulavam por ali. Outro signo da miséria com que a natura nos solapava era o araçá. Eita arbustiva sofrida! Enquanto sua prima, a goiabeira, é famosa por dar frutos às toneladas, os mirrados pés de araçá espalhados pelos morros do entorno davam de quando em vez (uma vez ao ano?) alguns frutinhos. Dois, três num pé. Sim, ao menos eram deliciosos. Apenas uma frutinha tínhamos em abundância e livre de latifundiários, despida de cercas, não vigiada por cachorros ou espingardas de sal grosso: Os jamelões. Ao contrário dos nativos ingá e araçá, o jamelão é originário do sul/sudeste asiático, mais especificamente da Índia, a mesma pátria ou mundo (pois a Índia é um mundo à parte) que nos deu a manga. O jamelão, se você não conhece, é fruta que dá em pencas, e também em pencas 55
ela possui nomes. Abra o peito e apare, segure a rajada nomenclatural: Jambolão, jamborão, baguaçu, jalão, joãobolão, topin, manjelão, azeitona-preta, ameixa roxa, bagade-freira, oliveira, azeitona-roxa, brinco-de-viúva e ainda guapê. E sabe-se lá quais nomes mais. Aqui tínhamos uma ampla e plana área – por sinal vizinha ao já citado sítio do seu Pedro, a que chamávamos de “Sek” – sabe-se lá por quê. Bem, a Sek abrigava o campo do Nazaré, famoso campo de peladas regional. Mas, de futebol só fui gostar após os quatorze anos. Naquela altura, eram os quase trinta (valei-me Deus!) pés de jamelão que me solicitavam todas as mesuras. As maiores daquelas árvores chegavam a mais de dez metros, e impunham-se na paisagem, como gigantes – de quem nos aproximávamos com um misto de amor e temor, como se fossem totens. Ah, quantas tardes dediquei a empoleirar-me com Renato, Wilson e outros amigos por aqueles galhos, e passar horas e horas colhendo o arroxeado pomo, e papeando – jogando conversa fora com a repetitiva e ampla frequência com que cuspíamos os caroços. A cada ano, aguardávamos com sofreguidão a estação da frutinha, e a comíamos até sofrer de prisão de ventre. Sim, a fartura tinha um efeito colateral severo. “Pelávamos” um pé até exauri-lo, como gafanhotos; enquanto isso, outro chegava “no ponto” de colheita. Não era fruta que se prestasse a comércio e armazenamento: Guardada, rapidamente mudava de sabor, o que era tolerado por muito poucos. Era fruta esculpida pelo Deus dos moleques para ser comida no pé. 56
Até hoje, quando vejo um pé de jamelão à beira duma estrada – e há deles em beiras de estradas por todo o estado do Rio de Janeiro, e todo o Brasil – sinto uma melancolia feliz, e uma tristeza por não poder achegar-me. De mais a mais, já não tenho preparo para escalar rudes troncos, nem peso para arriscar a sorte sobre finos galhos. Hoje, toda a região da Sek, que fica na rua Dalva Raposo, foi ocupada por um condomínio, de estranho nome: Atenas. A pátria da democracia nomeia uma usurpação latifundiária que nos roubou nosso campo de anarquia, nossa livre-lavoura de prazer e sustância.
57
Capítulo 13 De quando fomos desafiar o famigerado Lobão para um jogo de bolas de gude
Confesso uma vergonha: Nunca fui bom com atividades ou brincadeiras manuais, e mesmo com esportes. Não me interessava por soltar papagaio (que aqui chamamos de cafifa); nunca aprendi direito a jogar bolinha de gude, rodar pião, sequer jogar um bilboquê! De tal desacerto nem eu sei o motivo. Talvez fosse, além de uma inabilidade nata, preguiça em aprender. De toda forma, a bola de gude era uma febre difícil de ser vencida. Eu queria estar na rua, queria companhia, e assim, mesmo sem ser um jogador, eu me dispunha acompanhar outros jogadores em suas disputas, na falta de ter algo melhor para fazer. Renato era um grande “fominha” das bolinhas de vidro, e um formidável jogador. A coisa nestas paragens era tão evoluída que por vezes os melhores jogadores do bairro agiam como no velho oeste: Um desafiava o outro, e marcava hora e tudo para a troca de tiros, perdão, de boladas de gude. Foi numa noite húmida de verão que Renato me chamou para acompanhá-lo até a casa de um elemento que eu conhecia apenas de vista, até porque ele era mais velho que nós, um mal encarado a quem chamavam de Lobão – sim, como o cantor de rock, popular naqueles fins da década de oitenta. 58
Chegados em frente da casa do bruto, começamos a chamar. Chama que chama e o tal Lobão, que de lobo parecia não ter nada pois pelo visto era quase surdo, não respondia. Continuamos a chamança, a chamação, o chamado, a chamadeira ou que seja, e nada do lupino pilantra dar as caras. Eu já queria ir embora, mas Renato, fominha, queria jogo, queria duelo, queria aumentar sua colença daquelas inúteis bolas de vidro. Lobão morava num quintal de duas casinhas, quintal cuja frente era protegida por um murete, coisa de um metro, metro e vinte de altura, tijolos assentados sem chapisco nem reboco. Ninguém dava sinal de dentro da casinha, embora pudéssemos ouvir até a TV ligada, e resolvemos nos achegar à mureta para berrar com mais gosto. O que se seguiu foi um processo contínuo e fulminante: Apenas encostamos na mureta, para melhor chamar o tal lobo surdo, e a maldita veio abaixo, desmontando-se como se feita de pecinhas de Lego, como se o cimento na junção dos tijolos fosse barro... No mesmo instante, como se sacado de uma cartola de Mandrake, o lobo pulou para fora da toca, furioso como um diabo, xingando nossas mães, avós e irmãs. Dessa vez não deu pra fugir, e olha que de minha parte cheguei a fazer menção de disparar para casa. Ele sabia onde morávamos e iria com certeza aparecer por lá. E agora? Chora daqui, se desculpa dali, e a solução imposta pelo grandão foi que reerguêssemos o muro: Ali mesmo, naquele impropício momento, no escuro abafado duma noite de verão. 59
Nas praticamente duas horas seguintes, eu e Renato fomos feitos de pedreiros, trôpegos, confusos, aloprados – montando tijolos uns sobre os outros, sem massa nem nada, apenas “no encaixe” como num jogo de Lego mesmo – sob o olhar furioso do Lobo mau. Mais uma vez, o prejuízo da trupe ficou barato: Se meus pais fossem acionados, eu levaria mais uma coça. Não teve jogatina naquela noite: Após concluirmos a cansativa montagem, fomos honrados com um belo cascudo cada um, e voltamos para casa em silêncio. Amanhã é sempre um outro dia...
60
Capítulo 14 Sobre nossos apelidos
Amigo leitor, percebo que até aqui eu não dei nota sobre a origem de nossos apelidos. Vamos, pois, a isso. Renato Cascão vem, claramente, do famoso personagem de Maurício de Souza, membro da Turma da Mônica e cuja marca distintiva era... a ojeriza por água, ou melhor, por tomar banho. Mas a alcunha, como a maioria delas, tinha muito de lenda e de maledicência: Renato evitava o tal banho “quase” como qualquer moleque da idade, mas eu o via tomar banho algumas vezes. Espere, dirá você, como isso? Como afirmei anteriormente, a família dele sobrevivia em grande carestia. Não havendo banheiro no humilde barraco (a latrina ficava num cubículo à parte), os banhos eram tomados no quintal, apanhandose a água de um galão que, dia e noite, transbordava alimentado pelas águas “gratuitas” da Cedae, nossa companhia estadual de águas e esgotos. Era banho de canecão mesmo, na água gelada e ali, do lado de fora! Assim, fica fácil para qualquer moleque descuidar do asseio... As muitas e diárias andanças numa terra que jamais vira asfalto tinham seu efeito colateral: As pernas do pretinho estavam sempre ruças, brancas de poeira, quando não de frio nos momentos de invernia. E estava assim pintado o quadro, ou melhor, o personagem de quadrinhos... 61
Já o meu apelido, esse sim era bem merecido. O “maluco” era devido a meus esporádicos ataques de fúria – sim, segundo os psicólogos do tempo, causados por um problema de disritmia. Nesses ataques eu quebrava coisas, fazia pirraça, feria pessoas: ficava mesmo possesso como um pequeno javali. Você pode imaginar que causei muitos dissabores para meus pais, em alguns episódios – dos poucos que me lembro – de que até hoje me envergonho. É comum todo morador antigo que teve convívio comigo ter alguma história para contar, e eu mesmo quase que duvido quando as ouço. Por Deus, admiro meu pai por não ter me desintegrado na pancada!!! Lamento pelo leitor de pundonores, talvez pelos psicólogos, mas apanhei bastante, e hoje julgo que foi até bem pouco, pelo volume de encrencas que eu deflagrei. Meu quadro melhorou na primeira adolescência, com as gotinhas “amansa-leão” que a minha mãe me dava depois do almoço, jogando-as no suco de maracujá (suco que, por anos depois, evitei). E principalmente por visitas regulares a um psicólogo da APAE. Aquelas conversas, somadas ao tempo, panaceia de tudo, me mudaram. Mas, na infância, minha fama de “maluco”, embora sempre exagerada, era corrente. O preconceito que sofria aqui e ali, mesmo e covardemente por parte de adultos, foi algo que me marcou, mas cujo relato, nestas memórias de tom humorístico, é melhor evitar, amigo leitor. Feitas as apresentações, embora quase já em meados do livro, bem se entende que a vida unisse tais párias – o “mais pobre” da rua e o “maluco” da rua – na celebração de algumas peripécias... 62
Capítulo 15 O Triciclo dos Alucinados
Bem no início de nossa estranha amizade, me lembro de que o avô de Renato ainda era vivo. O quintal onde moravam era composto pela casinha desse avô, seu Cândio (provavelmente “Cândido”), e sua esposa, dona Conceição, e aos fundos ficava o barraco da família de Renato. Na frente, havia uma pequena birosca – Uma barraca, como chamamos aqui, que é na verdade uma minúscula venda dedicada fundamentalmente ao comércio de destilados (cachaça). No tempo eu era bem pequeno, mas uma memória que guardo era do coco em conserva: Pedaços de coco curtidos numa espécie de salmoura, que eram vendidos a alguns centavos cada porção. Eram gostosos! Foi ali naquela birosca, ainda na infância, que Renato iniciou suas aventuras em algo que, anos depois, se tornaria um vício e lhe custaria a vida: O consumo de bebidas alcóolicas. Mas deixemos de lado as rudezas da vida, e vamos ao pitoresco. Esse seu Cândio, homem negro com traços que lembravam de muito longe o ator Grande Otelo, era cadeirante, em decorrência das pernas amputadas. O velho possuía uma estranhíssima cadeira de rodas: Era na verdade um tipo de triciclo, com uma manivela ligada a um 63
eixo de pedais como de uma bicicleta, adaptada para ser movida com as mãos. Assim, forçando aquela manivela, o velho podia mover a cadeira-triciclo, ganhando alguma autonomia. No objetivo de comprar mercadorias para sua venda, e também apanhar algumas doações que os comerciantes do CEASA lhe forneciam, seu Cândio costumava ir até o CEASA de São Gonçalo, que ficava a coisa de uns cinco quilômetros de nosso bairro. De ônibus são apenas dez minutos. Mas, na força da canela, era duríssima a caminhada! Pois o velhote ia naquele triciclo, sendo quase sempre empurrado ou por Volnei, irmão mais velho de Renato, ou pelo próprio. Numa dessas idas ao CEASA (que eu não tinha a menor ideia do que e onde era), fui convidado a juntar-me à expedição. Quem sabe não foi aí que surgiu ou sedimentou-se nossa dupla expedicionária canelar? Confesso que não me lembro. E lá fomos nós, para uma distância que eu jamais havia percorrido a pé, avançando pela perigosa beira da pista ou estrada. Na volta, já exaurido, participei de algo que era normal de ocorrer, segundo Renato, quando ele saía assim com o avô: Tendo chegado na altura do que hoje é a Honda Motos, naquela pequena ladeira que vai dar onde atualmente é o Instituto Médico Legal e o posto da Polícia Rodoviária de Tribobó, Renato, no que o segui, pendurouse na parte de trás do triciclo (sim, havia um pedestal aparentemente para isso!), e lá fomos nós, descendo a toda numa única cadeira de rodas, três pessoas: Duas crianças e um senhor de quase setenta anos! 64
Imagine a cena, amigo leitor: Você, pacato citadino passando de automóvel ou ônibus, avançando sorumbático para seu trabalho ou estudo, refém de mil horários e sistemas, e vendo do livre lado de fora uma sinistra cadeira de rodas descendo a grande, insana velocidade asfalto abaixo, com um velhinho amputado como “piloto” e duas crianças de carona!!! Era a vida loka ainda no seu modo 1.0... Pouco tempo depois, seu Cândio infelizmente veio a falecer, e a vendinha foi fechada.
65
Capítulo 16 Renato e seu cachorro Bugui
Durante longo tempo de nossas infâncias, Renato possuiu um cachorro – Bugui era o nome dele. Bem, todo mundo tinha ou teve ou tem um cachorro, mas aquele ali era diferenciado, lotado de singularidades. Saíamos sozinhos em zigue-e-zague, algumas vezes por quilômetros catando reciclagens aqui e ali, entrecruzando ruas, matagais e levantando poeira em três, quatro bairros diferentes, e quando menos esperávamos, Bugui estava atrás de nós. Ou melhor, de Renato. Amigos, ainda hoje eu só posso atribuir aquilo à esfera do sobrenatural: Como seguir um rastro de cheiro por quilômetros, de ponto em ponto, até chegar ao seu dono? Isso era constante, a um nível em que eu chegava a dizer, não importa em que cafundó estivéssemos, fosse asfalto, chão ou mato: “Daqui a pouco Bugui aparece”. E em minutos o cão brotava, como se teleportado – sem dar sinal de sua presença silenciosa, que só por acaso notávamos. Aquele vira-latas, negro com faixas brancas e amarelas no peito e focinho, com o couro aqui e ali já marcado pelas agruras da vida, não latia em momento algum. Também não era afável; a relação deles não envolvia carinho baseado em toque, como é o ordinário de acontecer entre um animal e seu dono. 66
Eu não entendia aquilo, eu miseravelmente não entendia aquilo, pois sempre fui um desavergonhado abraçador de animais. Pelo contrário, aquela era uma relação rude: O dono por vezes até lhe batia para afugentálo, e o cão não dava demonstrações de alegria ou contrariedade: era impassível, fizesse o que fizesse, sofresse o que fosse. Que tipo de relação estóica era aquela? Aqueles dois entes espartanos, acostumados aos cardos e abrolhos da vida, que jamais davam demonstrações mais visíveis de amor um pelo outro – como se atraíam naquele nível sobrenatural? Sempre acreditei que aquele cachorro possuía um elo telepático com o dono. Dono que mais o enxotava do que qualquer outra coisa. “Não trate o cachorro assim”, eu repetia. “Ele não liga”, ouvia em eco. Para que você tenha uma perfeita ideia, quando brincávamos de pique-esconde na rua, a presença de Renato era denunciada pelo cachorro – que insistia em segui-lo para lá e para cá. Ninguém se escondia perto de Nato, pois o cachorro denunciaria a presença do dono e possivelmente de mais alguém naquele ponto... Quando Bugui morreu, eu, que talvez jamais o tocara – pois ele não era desses, ele não era do comum dos cachorros – senti um baque que não podia entender. O estranhamento de alguma forma nos vinculara.
67
Capítulo 17 Volnei Peito-de-Aço
Como relatei, Renato tinha quatro irmãos. O mais velho deles era o Volnei. Lembro de Volnei pelo peitoral largo – provavelmente pela atividade de tirar, no poder da pá, areia do rio para vender, atividade por sinal praticada por muitos moradores do local, como já relatei. E na qual até eu me aventurei, embora meus músculos imediatamente dessem alerta de que não podiam com aquilo. O rosto afilado, como se achatado dos lados. Sempre de poucas palavras, trabalhador, pacífico. Vou contar um causo envolvendo o “bruto”. Como relatei no início, nossa região é marcada pela presença do rio: do lado de cá as casas, do lado de lá era apenas o “mato”, por um imenso trecho, sendo a presença humana mais próxima do lado de lá, o tal hospital psiquiátrico. Nas décadas de 80 e 90, o balonismo, o triste e perigoso balonismo, corria solto, pois ainda não era (e agora, é?) combatido pelas autoridades. Assim, eram muitos os festivais de balões, inclusive um aqui próximo, o Festival do Saldanha. Muitos balões, principalmente nos finais de semana ou na segunda feira pela manhã, caíam no nosso morro, uma área então inacessível por carros e mesmo motos. Assim, as levas de vadios que ainda hoje saem em carreata e motociata atrás dos balões, para recuperá-los e reutilizá68
los – ou apenas pelo prazer da “caça” – tinham grande dificuldade de apanhar os balões que aqui caíam. Dificuldade essa que não nos afligia: O terreno era nosso conhecido, e os balões, ah, nós mesmos os apanhávamos e relançávamos ao ar, em ocasião oportuna. Não tínhamos dinheiro para comprar (ou desperdiçar em) sequer parafina para as buchas dos balões. E sabe como resolvíamos o problema? De forma sustentável, e aqui também há pioneirismo: Íamos a um trecho do rio chamado de “Ponte Caída” – outro dos lugares fortes do bairro, lugar de mortes e histórias – e raspávamos a sobra das muitas e muitas velas que os adeptos da macumbaria, religiões de matriz afro e wicca que fossem, deixavam queimar para suas entidades. Que horror, você dirá. Sortilégio! Sim, era com temor que o fazíamos, em geral arrastados pelo exemplo de algum moleque mais ousado. Raspávamos e ensacávamos ecumenicamente toda aquela parafina que fora destinada sabe-se lá para qual força, seja anjo, Gaia, deus ou demônio, e lá íamos fazer o nosso próprio “festival”: Em geral três ou quatro balões de tamanho pequeno a médio, cujo lançamento reunia gente, principalmente a molecada, como se fosse inauguração de creche pública. Bem, acontece que, numa dessas capturas de balão no morro, os moleques da área pegaram um imenso, com bandeira e tudo. Após dobrá-lo cuidadosamente, vieram descendo do morro, para atravessar o rio em direção a nossa favelinha. Perceberam então alguns homens – sim, todos adultos – estranhos observando sua aproximação, colocados bem no ponto onde se dava nossa travessia. 69
Além daquele trecho, não havia muita opção de atravessar o rio sem ter que se molhar. E, de mais a mais, a área era nossa, o que temeríamos? Ao chegarmos, os cidadãos de bem simplesmente disseram que aquele balão era deles. Retrucamos: “Não levem a mal não, mas fomos nós que pegamos. Ele agora é nosso”. Sem muita cerimônia, e sem vontade de prosseguir nos debates, um dos homens simplesmente levantou a camisa e mostrou uma arma, no que foi seguido por um outro daquele bando. Com a força matadora de tal argumento, fomos filosoficamente vencidos na contenda e entregamos o balão aos pilantras, que entraram em seus dois carros e partiram com nosso butim. Amigos, as forças do mal trabalham de forma misteriosa, e obedecendo a algum sinistro ciclo. Quinze dias depois, num outro final de semana de céu repleto de balões, eis que outro dos bitelos caiu em nosso caldeirão, em “nosso” morro. A molecada, composta de alguns de minha idade como Renato, e da geração dois a quatro anos mais velha, como Volnei, avançou célere para impedir que o balãozão em queda, ao pousar e tombar sobre si mesmo, pegasse fogo. A muito custo e pagando o tributo de muita pele arranhada nas lânguidas lâminas de mato – um trecho do morro era famoso por sua “lavoura” do perigoso capimnavalha – o balão foi apanhado, e cuidadosamente dobrado. Aquele sim iria para o depósito comunitário! Descendo do morro em direção ao ponto de travessia, eis que alguém soltou, no meio da patota: 70
– Ei ei, olha aquele carro lá, aquele Passat branco! São os caras que tomaram nosso balão no outro dia! A percepção de que os mesmos calhordas estavam ali, no mesmo ponto, comodamente esperando que lhes trouxéssemos, já dobrado e desmontado, o balão, encheu a todos de fúria. Um dos rapazes, não me lembro se Tonho, teve uma ideia, que prontamente comunicou aos demais. Os moleques continuaram sua aproximação, até certo ponto. Depois estacaram. Os caça-balões (gente, tanta mulher no mundo e aqueles homens barbados caçando balões!), percebendo o impasse, gritaram: - Ei moleques! Tragam o nosso balão! Bora! Era aquilo que Tonho queria ouvir. Apanhando o grande embrulho ou trouxa que era o balão dobrado, gritou de volta: – Esse balão aqui? Esse balão é de vocês também? – Sim, é nosso sim, nós que o soltamos! Pode trazer! – Se esse balão não é nosso, esse balão não é de ninguém, seus otários! Em seguida Tonho, cheio de cerimônia, como se fosse um xamã realizando um ritual, ergueu o grande embrulho sobre a cabeça e despedaçou todo o balão, com uma fúria teatral, enquanto a galera, zoadora que era, urrava num delírio animalesco! A reação daqueles adultos foi a menos adulta possível. Pior, foi desumana, diabólica: Sacando suas armas, fizeram fogo, fogo contra crianças e adolescentes, fogo por causa de um amontoado de papel colado. Como disse, boa parte do morro, inclusive aquela onde os moleques estavam, era coberta por vegetação de 71
cerrado, capim de baixo e médio porte e alguns arbustos. Assim, era “campo aberto” para aqueles diabos treinarem tiro-ao-alvo. A debandada foi geral, cada um vazou para um lado! E toma pipoco, toma tiro cantando no chão. Foi então que o sobrenatural de almeida se manifestou: Volnei, desesperado, desceu por uma ravina correndo como um cavalo ou um gambá em telhado de zinco quente, cabeça baixa como se para protegê-la ou concentrar forças na corrida. Não dava mesmo tempo de olhar pra nada! Só que, camuflada pelo capim alto, havia uma cerca – uma cerca de arame farpado. Amigos, Volnei, já em vias de bater o recorde dos 200 metros rasos, chocou-se com todo aquele peitoral contra a cerca... E seguiu em frente, desabalado em seu desespero, aparentemente sem sequer perceber que acabara de arrebentar ou fazer soltar de suas presilhas três fios de arame farpado, como se fosse um mamute. Nem todos vocês terão a dimensão de um feito desses. Deixe-me ajudar a esclarecer: Por três vezes eu também já me choquei com cercas de arame “sem ver”. E sem ultrapassá-las, claro. Em todas eu também estava correndo. Numa delas, eu descia de uma íngreme ribanceira, onde subira para fotografar paisagens – uma já perdida paixão de adolescência. Passara agachado pela tal cerca, mas na volta, esquecido do embaraço aramado e temeroso de descer devagar e vir a quebrar minha preciosa maquininha Zenit “semiprofissional”, resolvi descer a ribanceira correndo, pois por incrível que pareça 72
a velocidade acaba favorecendo a aderência ao terreno. Só faltou mesmo foi acertar o plano com a dona cerca... E nela bati com toda a força, sendo imediatamente jogado para trás, com furos numa das mãos e na barriga. Não consegui romper nem um fio do arame, e Volnei levou três... Mas fique tranquilo: Graças a Deus ninguém ficou ferido por aqueles disparos. Deixe-me finalizar com outra de Volnei. Ainda hoje temos as garrafas (cascos) de vidro da Coca-Cola. Antigamente – e por um longo antigamente – só havia o tradicional casco de um litro. Os mais velhos irão se lembrar que aquela garrafa possuía o vidro mais grosso do mercado: No fundo chegava a um centímetro de puro vidro. Pois, numa das andanças pela beira do rio, margeando o fundo das casas e barracos, Volnei – que só andava descalço, o bruto, assim como Renato costumava fazer – pisou sem querer bem no meio de uma garrafa de CocaCola. A garrafa foi esmigalhada e Volnei, incólume como um Aquiles, seguiu sua marcha. Qualquer outro teria levado trinta pontos e deixado as partidas de pelada no campinho do morro para sempre...
73
Capítulo 18 Os caronistas
Um dos grandes prazeres de minha infância de diabruras era pegar carona. Mas, como assim? O lance era o seguinte: Qualquer caminhão que passasse pelo bairro, na época todo feito, todo trabalhado em esburacadas ruas de chão e terra socada, era um convite, um chamariz tocado à diesel, um poleiro convidando os frangos que éramos. A melhor das caronas era a usufruída nos caminhões de pipa d’água: Sua carga balouçante e pesada lhes impedia de andarem muito rápido, e somado a isso o caminhão tinha para-choques e poleiros como que feitos especialmente para que alguém neles se pendurasse. Coisa de design e ergometria, fui aprender anos depois. Ou não. Bem, o importante era a diversão. E quando um caminhão vinha em nossa direção, enquanto saracoteávamos tranquilamente pela rua, e ao passar por nós víamos que já havia um ou mais moleques pendurados na traseira? Ohh! Aquilo era tomado na conta dos ultrajes, afinal ninguém poderia dar uma festa sem nos convidar. E lá íamos nós também. Havia mesmo uma apurada técnica para escaparmos das vistas dos motoristas e ajudantes, alguns já tarimbados em lidar com aquilo. Passando pelo caminhão, continuávamos em frente, jamais observando-o diretamente ou demonstrando qualquer agitação. Alguns 74
passos adiante, do canto da rua andávamos para o centro da mesma, até atingir o delicioso “ponto cego”, centralizados bem atrás do caminhão e ficando invisíveis aos espelhos retrovisores. Neste momento dávamos meiavolta e literalmente voávamos em disparada, para agarrar nas ferragens. Outra carona muito praticada era a realizada nas portas dos ônibus. Naqueles tempos, os ônibus possuíam um balaústre (espécie de apoio ou corrimão) para o lado DE FORA das portas – o que nos modelos posteriores foi sabiamente alterado, ficando agora do lado de dentro das mesmas, e sendo expostos apenas quando as portas se abrem. Pois bem, aquelas duas “asas” para fora dos ônibus eram um convite para nos agarrarmos ali, equilibrando os pés nos sopés das portas. Íamos para a loja da Popó Piscinas, início da rua principal do bairro, e assim que o ônibus entrava, lá íamos nós agarrados, curtindo o vento nas fuças até a nossa rua. A Anarquia era deusa celebrada naqueles idos e sofridos: alguns dos motoristas já nem ligavam. Mas outros, furiosos, paravam o ônibus ou pior, aceleravam à toda, sacolejando a sulapa de ferro e lata para ver se desistíamos – ou caíamos, catapultados pelo tremelique do navio pirata. O ônibus que atendia ao bairro fazia a linha 17, da empresa Icaraí (hoje ABC), que cumpria o trajeto entre os bairros de Maria Paula a Jardim Catarina. Ainda hoje a linha existe, mas agora passa por uma outra rua. As más línguas dizem que eu ajudei a remover o ônibus de nosso bairro, 75
de tantos vidros que quebrei. Mas deixemos esses comentários venenosos para os maledicentes. Quanto às caronagens clandestinas nas portas dos ônibus, eu e Renato éramos ali os talvez mais hábeis praticantes desse esporte radical e suburbano – atletas de ponta, campeões irreconhecidos dum esporte hoje proscrito pelo duro julgamento da lei. Bem, certa feita as coisas não saíram como o corriqueiro. A atividade caronística tinha seus riscos, que eram algo calculados: O ônibus, ainda que o motorista acelerasse, geralmente parava de uma a quatro vezes bairro adento, para descarregar passageiros, isso apenas até chegar em nossa rua, situada no quarto “ponto”. Dali em diante, por sinal, não havia iluminação pública, e ainda por cima as casas escasseavam, num “vácuo” humano que ia por quilômetros até o distante bairro de Maria Paula, já na fronteira com o município de Niterói, onde tal linha de ônibus tinha seu ponto final. Assim, de maneira alguma poderíamos passar de nossa rua, sob risco de nos vermos, em plena noite, “perdidos” e sozinhos bem longe de casa. A boa etiqueta recomendava que descêssemos ao menos na segunda parada, por via das dúvidas. Pois vai que ninguém descesse nas seguintes? Mas nessa noite fatídica, após apanharmos nossa democrática condução, notamos que o motorista já iniciara a acelerar desde o primeiro ponto. Passou um ponto e ninguém descera, outro e nada... Chegamos no terceiro e igualmente ninguém puxou a “cigarra”, a campainha para descer do veículo. Eu e Renato ficamos preocupados. Enquanto aproximava-se de nosso limite, o 76
ponto que dava para nossa “rua”, notamos que o miserável acelerava ainda mais – talvez já nos conhecesse! Vendo que ninguém iria descer, que o carroção tremia em solavancos cada vez maiores, e que acabaríamos lá em Maria Paula ou coisa pior, Renato, meu sinistro mestre, nãos se fez de rogado: Pulou dentro de uma fossa de esgotos que margeava certo trecho da rua! Enquanto avançava agarrado com força àquela porta, ainda pude ver o bitelão se levantando da lama, todo “cagado”. Mesmo em desgraça, encontrei tempo de gargalhar e gritar, caçoando do “espertalhão medroso”, que confirmava a fama de “Cascão”! Entretanto, poucos metros adiante era o limite, a linha vermelha entre a civilização e o breu total. Tentei pensar o mais rápido que pude, ao ver que naquele último ponto ninguém desceria mesmo, e o satanáquia do motorista só fazia acelerar. Foi só então que me ocorreu que não havia mais fossas de esgoto. Ou moitas e matagais. Era apenas chão. Chão duro, compactado, coberto de esfoliante cascalho. Agora em mortal desespero, qual Ícaro de desfeitas asas, foi naquele chão que me joguei. Não me lembro bem como foi o impacto. Bem, nem bem, nem mal. Testemunhas dizem que capotei pelo chão como um dublê de filmes de ação. Como de nada recordo, devo ter desmaiado na primeira pancada. O resto foi por conta e divertimento da lei da gravidade... Acordei com algumas pessoas sobre mim, me abanando. Uma, a irmã de Renato, Rosana, correu imediatamente pata avisar meus pais – o que me fez tentar levantar-me para detê-la, possuído de ódio e medo, pois 77
eu tomaria mais uma coça, uma surra homérica! Ela não se comoveu, que não era disso, nem eu tive forças: e lá vieram meus pais. Jogado nos bancos de um Fusca ou Brasília, fui levado às pressas até um hospital para o raio-x rotineiro. Nada quebrara, por sorte. Nos dias seguintes, aquele de quem ri, o que se jogara na maciez pútrida de uma vala, me zoou como a um asno, dizendo que eu preferira me jogar no chão duro e “apagara” como um pavão ou heroína de novela das sete. E eu aprendera mais uma lição de meu mestre de presepadas...
78
Capítulo 19 Vamos falar sobre etnia
Filho de um paranaense de Arapongas com uma mineira de Itanhomi que, um a trabalho e outra a passeio, no Rio de Janeiro se encontraram e, fulminados pelo terrorista Cupido, num insosso e depauperado subúrbio gonçalense resolveram fundar família, fui um menino branco criado fundamentalmente entre negros. Meus pais, pela graça de Deus, assustadoramente não demonstravam traços perceptíveis do racismo deslavado ou sequer do quase onipresente racismo estrutural que, como um verme, trafega nos intestinos de nossa sociedade. Essa indiferenciação de pessoas, fosse qual fosse sua pele, foi imediatamente passada a mim e a minhas irmãs. Meus amigos, colegas, seus pais, até meus desafetos, negros em sua grande maioria, me fizeram quem sou, definiram meu modo de ser, e nem posso imaginar ter sido criado numa realidade diferente. Tenho um imenso orgulho de tudo o que vivi, de todos eles, e este livro é um dos braços ou frutos desse orgulho. Se sofri o chamado “racismo reverso” (que por sinal não existe, mas isso é uma outra conversa), ou melhor, se fui acossado por ser “branco”? Sim, boas vezes. E devolvi racismo com racismo, invertendo os impropérios: A cada “branco vela”, ou “vela de macumba” eu lançava um “picolé de carvão” ou coisa parecida. Sim, hoje tudo muito feio, enquadrado no código penal. Mas aquelas ofensas 79
entre moleques (e meninas), aqueles tapas verbais terminavam como as ofensas baseadas em tapas físicos: No dia seguinte, ou tardar numa semana, tudo havia passado. Antes que eu pudesse compreender todas as vantagens indevidas que a minha cor, que não escolhi, me concedia e concederia enquanto eu vivesse – às custas do sangue, do suor e das oportunidades roubadas de meus irmãos negros – sim, aqueles negros por cuja amizade eu optei e a cujo círculo eu chorei para dele pertencer, para ser entre eles aceito – uma outra e divertida “vantagem”, essa mais condizente com este livro de humor, foi muito explorada pela malandragem beirarriense. Notadamente, claro, por meu mestre-de-ofícios, o Renato. O caso era que, em nossa Beira Rio, havia já àquela altura dos anos oitenta algumas famílias de nordestinos. Os nordestinos, gente humilde e trabalhadora, fosse por inadequação, temor ou timidez, não era de se misturar com os demais comunitários. Viviam suas vidas entre o trabalho e o lar, e reuniam-se apenas entre eles mesmos. Algumas dessas reuniões corriqueiras transcorriam durante os aniversários, principalmente os infantis. Bem, se não conheciam ou tinham desenvolvido amizade ainda com quase ninguém do bairro, era comum que suas festas reunissem apenas outros nordestinos: tanto próximos quanto distantes, os ao mesmo tempo humildes mas festivos nordestinos celebravam seus bons momentos com fartura em comes e bebes. Comes e bebes: Pode haver, para moleques de rua, expressão mais atratora? Mas, como entrar numa festa em 80
que não se fora convidado? Tentávamos como podíamos, como joões-sem-braço, na base do cerca-lourenço, devagar e sempre, ou mesmo na marra, entrando de bonde. Não importava o método, o resultado era o mesmo: Todos aqueles “pretinhos” eram imediatamente identificados, claro, como penetras, como bicões naquelas festas de nordestinos brancos. O ocorrido numa ocasião em que entráramos numa das festinhas despertou a atenção do malicioso Renato: Dos cinco bicões que se intrometeram naquele festim, quatro foram expulsos; mas eu, branco, fui deixado incólume. Não era racismo: Eu simplesmente fora confundido com o filho de um deles. Chamado ao portão, fui instado (bem, talvez ameaçado) por Renato e demais a apanhar guloseimas e salgadinhos dentro da festa e trazer para fora, para a partilha do pão com meus irmãos de destino. Funcionou. E assim, doravante, eu me tornei o agente infiltrado oficial da Beira Rio: O falso nordestino que era arroz-defesta, sempre presente em todas. “Você é filho de quem mesmo?” “Da Francisca, da Francisca”, eu dizia, mesmo sem conhecer Francisca alguma. Um dia o engodo caiu por terra: Eu fora finalmente identificado como o “filho de dona Lia, uma que mora ali, assim, assim”; como não-nordestino e principalmente, como não-convidado, as portas, não sem justiça passaram a se fechar, para decepção de meia rua... E de mais a mais eu, sempre muito tímido, já estava mesmo farto daquele constrangimento, e daquele peso 81
de, ainda tão jovem, ser o responsável, o arrimo, pela alimentação de tantas bocas!
82
Capítulo 20 Casemiro, O Profeta
Impossível coordenar no mesmo período os termos Jardim Nazaré e catar ferro-velho sem elencar o terceiro elemento que completa a equação: Profeta. Seu nome, ao que consta, era Casemiro. Possuía um ferro-velho em sua casa, na rua principal do bairro. Quando o conheci, era já um ermitão. Meus pais diziam que tivera esposa, que aparentemente abandonara o coitado. Era homem já pelos seus 60 ou mais (ou menos, que a vida trata a cada um com um rigor diferente), senhor de suas rugas e verrugas. Seu cabelo, alvo e sempre desgrenhado, lhe alcançava quase os ombros; seus trajes completavam o arquétipo do eremita: Shortões ou calças puídos ao máximo, cheios de reparos aparentes, de costura desleixada e cores indefiníveis, dado o encardido. Suas camisas seguiam o mesmo script. A barba não grande, mas sempre por fazer, era o arremate, a cereja do bolo. Aquele morador dum bairro suburbano de São Gonçalo bem que poderia ser confundido com um elemento antisocial (nossa língua imensa tem até um nome feio para isso: misantropo) morando numa gruta ou caverna no agreste do país. Fato que contribuía para aumentar a aura de mistério que, ao menos para as crianças da época, o envolvia: Quando eu lhe perguntava por que ele era chamado de 83
Profeta, o desconjuntado fazia uma cara de pensador profundo, e dizia: – Você não ia entender, garoto... – Mas, diga, diga que eu entendo sim, seu Profeta. – Garoto, isso está muito além de sua mente de criança. Sabe, eu vejo mundos... – Mundos??!!! Caramba!!! Fale sobre esses mundos. – Esqueça isso, moleque, você é muito jovem para entender. São mistérios... Por incrível que pareça, este diálogo se repetiu algumas boas vezes, sempre com o mesmo desenlace inconclusivo. E vez após vez o diabrete da curiosidade plantava seu feijão mágico em minhas terras férteis. Pois bem, as primeiras experiências de mercar reciclagem de todos os moleques do bairro começaram com Profeta – ainda que, depois, fôssemos migrando para ferros-velhos mais distantes, mas que em compensação pagavam melhor. Antecipando-se aos movimentos feministas de igualdade laboral, até meninas se apresentavam naquele entreposto para vender ferragens e garrafas! Recordo de que era comum na época catarmos ferro e latas principalmente. Essas hodiernas embalagens plásticas dos óleos de soja, ou as latinhas com partes de papelão de alguns leites em pó inexistiam: Era tudo tecido na mais pura lata. Assim, era bem fácil acumular boa quantidade do (já àquela época) desvalorizado material. E, como dito nalgum lugar, não havia coleta de lixo pelos despudorados poderes públicos: A cada esquina e meia havia um lixãozinho a céu aberto. 84
Chegando diante do ferro-velho do Profeta, um ritual se estabelecia: Apanhávamos alguns soquetes bem pesados, feitos de barras de ferro, e nos púnhamos a amassar todas aquelas latas, uma barulheira infernal. Como o produto era pouco, pouquíssimo valorizado, e nossa carestia era grande, recorríamos a um subterfúgio que, acredito, sempre foi e ainda é praticado em todo o grande mundo: Colocar pedras dentro das latas para que, depois de amassadas, seu peso aumentasse. Ah, doce esporte! Mas tal subterfúgio nem sempre redundava em logro: Se Profeta, apanhando uma das latas a esmo e a balançando, percebesse o engodo, mandava recolher todo o conteúdo que já estava em sua balança e “ir vender em outro lugar”. Era preciso apuro para amassar bem amassadas as latas com pedras, e não colocar pedras em todas, é claro. Certa feita, a engenhosidade maléfica de Renato teve uma inspiração, um insight criativo, o qual ele comunicou a uns cinco ou seis moleques da rua. Acontece que a casa de Profeta era protegida não por um muro de alvenaria, mas por um emaranhado de chapas de lata, arames e paus entrelaçados. Um quiprocó dos carambas, que lembrava até algumas obras de arte modernas que eu viria a conhecer. Mas, dentre aquele emaranhado muito bem urdido, Renato percebera uma lacuna. Sim, uma chapa de lata que, se corretamente forçada, daria entrada naquele quintal, ainda que fosse pelo menos a uma criança menor que nós. O que se seguiu foi vergonhoso, mas julgávamos apenas estar empatando o jogo, pois as balanças de Profeta eram 85
algo suspeitas de sempre “roubar para a casa”, ou a banca, outra prática de universal valência... Toda noite, íamos até aquele ponto da cerca e, forçando silenciosamente a lataria, embutíamos um dos pequenos para dentro – em geral um dos irmãos menores de Renato, Aguinaldo (“Guinaldo”) ou Ricardo (“Cado” ou “Cadim”). Os pequenos safardanas então surrupiavam o que podiam – garrafas e garrafões, pedaços de alumínio que porventura Profeta houvesse esquecido “do lado de fora”, já que os materiais de mais valor eram guardados dentro de casa, e até ímãs. E, no dia seguinte, lá íamos nós... revender as peças para ele mesmo, Profeta. Lembro que nos regozijávamos com aquilo, acreditando sermos os maiores malandros de todo o orbe terrestre. Dinheiro fácil e justiça, a desejada justiça, feita contra aquelas balanças viciadas em infidelidade!!!! Mas a alegria durou pouco. O velho, mesmo com todo aquele traquejo de lelé da cabeça ou doidivanas, certo dia nos disparou, na lata: – Ei, esse ímã aqui não é meu, não? Antes que pudéssemos negar, o raciocínio daquele misantropo correu rápido como numa visão, e ele imediatamente associou todas as nossas vendas dos dias anteriores a desfalques – agora ele entendia – em sua própria firma. O resultado: Além de perdermos a carga que fôramos levar naquele dia, ficamos proibidos de ali comerciar por um bom tempo. E o buraco na cerca, ah, o velho encontrou e tapou no mesmo dia! 86
Com o tempo, o pobre do Profeta foi diminuindo as atividades, e por fim vendeu a parte da frente de seu terreno para um indivíduo que lá construiu sua casa. Ficando ainda mais isolado, pois sua casa agora ficava “escondida” no terreno dos fundos, ali Profeta faleceu, sozinho e misterioso como sozinho e misteriosamente vivera boa parte de sua vida. Saudades de Profeta, de suas broncas, seu jeito irritadiço, e das muitas risadas que pude dar com aquele simpático, sim, simpático velhinho ranzinza. Velhinho que, além de me ensinar sem querer a exercitar a imaginação, me dera os rudimentos práticos do ofício de catador: saber diferenciar “metal” de cobre, antimônio de “bloco”, ferro de aço e por aí vai...
87
Capítulo 21 O Pau-de-Sebo
As novas gerações e mesmo as mais maduras, porém criadas em ambiente urbano, talvez não saibam o que seja um pau-de-sebo – ou imaginem, de pronto e maldosamente, que ele seja algo muito diverso do que é na realidade. Antes de maiores desentendimentos, deixe-me aclarar logo a questão: Pau-de-sebo é uma tradição típica de festas juninas, uma tora de madeira de grande altura, à semelhança de um poste desses de eletricidade, completamente lambuzado, lubrificado, empapado com sebo (gordura) de porco. Eeeecaaa!, dirá você. E qual o objetivo disso? Um totem para ser incendiado à meia noite? Um símbolo do sincretismo pátrio que fundiu temas do catolicismo a outros oriundos dos cultos de matriz afro? O pau-de-sebo é apenas uma brincadeira, algo perigosa, sim, mas muito divertida, daquelas diversões cruentas hoje já tão raras. Instalada a grande tora em ponto central da festa, já devidamente “confeitada”, avisava-se aos festeiros presentes que, no topo daquele poste, havia uma nota ou um cheque representando um valor algo considerável – Digamos, em valores de agora, 300, 500 reais. Pois bem: Estava dada a largada para as tentativas de subir em tal poste. Escadas e apetrechos de apoio não podiam, claro, ser utilizados: O valente ou a valentina, pois sempre houve 88
dessas, deveria atracar-se a todo aquele escorregadio desafio e escalar tronco acima, como um macaco. E como era divertido! De quando em vez o sebo era reposto, pois o frenesi de candidatos ao tesouro acabava arrancando boa parte do tal sebo, que saía grudado em camisas e bermudas... Alguns, já quase chegando ao topo, cansados e de repente tocando área de banha ainda “virgem”, repentinamente despencavam – e o sebo restante na enorme envergadura daquele pau fazia as vezes de poderoso lubrificante, pois para baixo, seja em festa de São João ou de qualquer outro patrono, todo santo ajuda. Certa feita, fins da década de oitenta, realizaram aqui na comunidade do Jardim Nazaré, e bem em frente à minha casa, uma festa junina. O festim foi organizado dentro do tradicional, no prumo da ortodoxia: Montaram palanque para a dança de quadrilha, forraram a rua de lado a lado com barraquinhas de guloseimas e prendas; bandeirinhas cruzando os céus, bambus e caniços dando o tom de roça. O organizador da festa era um camarada bem simpático, eterno candidato a vereador (eterno não, depois cansou-se), o William. William era também cana, meganha, magarefe: Soldado porra-louca como era o normal dos policiais militares cariocas daquele tempo. Anunciado o valor, os durangos, aventureiros e também cachaceiros do bairro se lançaram ao desafio, como heróis numa batalha. Dias se passaram enquanto aqueles sôfregos heróis de birosca se revezavam na frente – ou tora – de combate, e nada de nenhum dos valentes conseguir assenhorear-se daquela quantia, a essa altura já mítica. 89
Eu e Renato, junto a outros peraltas, bem que tentamos dar nosso sangue em tal peleja comunitária, mas nada logramos. Nem o talvez maior escalador de nossa idade, o legendário Luciano “Neném”, também dito “Highlander, o Imortal” – que se tornara lenda não por seus dotes de abraça-tora mas, acredite se quiser, por engolir QUALQUER remédio que achasse no lixo durante as expedições em que catávamos ferro-velho, sem jamais manifestar qualquer efeito, seja salutar, seja colateral, de tão sinistro apetite – conseguia superar a extensão daquela vara... O expediente era coisa pra adultos mesmo. A causa ou a bufunfa já era dada como perdida. Mas, num arroubo final, já no penúltimo dia dos festejos – que se estenderiam por uma semana – uma aliança sombria foi formada, uma cabala de malandros do “melhor” que havia na área. Iluminados ou apertados pela desesperança, elucubraram uma ideia, uma última cartada contra a fortaleza de sebo. E assim, com cada um dando o melhor de si, formou-se uma pirâmide humana, composta de uns seis bravios canabravas... E não é que os rapazes conseguiram? Nande, o mais leve deles, ficou com a honra ou a temerosa missão de ser o topo da pirâmide. Foi lindo: O sol de fim de tarde chegou a emitir um pulso, um flash, um brilho especial quando aquela mão leve – na plena acepção do termo – apalpou a pontinha do cheque. Ao desmontar-se aquela pirâmide mambembe, salvos todos sem ferimentos, grande foi a festa! Cada um daqueles pipa-avoadas parecia imitar um bicho, de tanto 90
que urravam, ou mugiam, ou grasnavam, ou sei lá que som um burro faz quando avoa! Apanhando o cheque das mãos de Nande, o suarento Marcão, organizador ou chefe daquela estranha liga dos escaladores de tora, e que aturara o peso de cinco homens nas costas (não tente isso em casa!), foi conferir o valor do mesmo e a assinatura. Assinatura não constava, e o valor era nenhum: O cheque estava em branco. O que se seguiu, amigo leitor, naquela festa que se iniciava, foi um fuzuê, um arranca-rabo, um salseiro como o Jardim Nazaré poucas vezes teve o desplante de ver. O impasse entre xerife William e aqueles homens agora furiosos – sujos, fedorentos e furiosos – terminou em desobediência civil e desrespeito à autoridade, que afinal era gente boa mas não merecia lá muito respeito mesmo. Naquele vai-não-vai que sempre impede o cidadão de bem de esmurrar a cara dum poliça, sobrou mesmo foi para o segundo-em-comando da festa: O DJ, eletricista, técnico em eletrônica, mecânico de mobiletes e professor Pardal da comuna, o Paulo. E finalmente, ao som de Gonzagão e Gonzaguinha, a pancadaria se estabeleceu no arraiá. E, naquele anarriê, entre chutes e sopapos, badulaques e enfeites foram arrancados, caniços de bambu se tornaram varas justiçadoras, e até as inocentes caixas de som, grandes e valiosas e que pertenciam ao franzino Paulo, tiveram seus alto-falantes arrebentados a coices por aquela boiada em estouro. O dia seguinte, último dia da agora esvaziada festa, parecia dia de luto: Eu fora proibido de atravessar o portão 91
92
e, contrafeito, observava de por cima do muro. Era cada um em sua casa, chorando mágoas, esfregando roupa encardida até o talo, de tanto abraçar aquela grande e sebenta tromba, e aplicando emplasto de saião nas feridas e nos magoados. Quanto ao cheque em branco, em branco ficou: Nunca foi saldado, e cada um ficou com seu prejuízo. Mais que o valor imaginado, custavam aquelas caixas de som que foram despedaçadas naquela festa de São João, um São João palha-sequence regado a maçãs-do-amor e tapas na cara, e que, ao menos naquele ano, foi melhor que o de Campina Grande, a capital paraibana e mundial do tal festim! (No camarote das santidades, imagino que o bom São Gonçalo deve ter olhado para o veterano João e, desaguentando a bronca e desrespeitando a hierarquia, soltado: “Espia, espia... Espia e aprende como se faz uma festa, meu padrinho...”
93
Capítulo 22 Gambá e o Gran Cassino Palha Seca Todo bairro tem suas histórias, seus mitos, seu fabulário. O nosso Jardim Nazaré ou Palha Seca não foge à regra. Recentemente, ao ver uma notícia inusitada circulando na internet, lembrei-me de uma história acontecida por cá, nos estertores finais da década de oitenta. Que o leitor me permita relatar aqui esta resenha na qual nosso Renato é tão somente um reles coadjuvante... Em frente à minha casa morava com sua família cidadão de fácil amizade, mineiro como minha mãe, dado porém a uma vida irregular, mantida à base de escambos (o famoso troca-troca de mercadorias). Era um passarinho por uma carroça, uma carroça por uma geladeira e mais um dinheirinho de volta, uma geladeira por um trezoitão capenga da Taurus... E assim esse “malandro”, na boa acepção do termo, ia sobrevivendo. Para auxiliar nas despesas trazidas pelos quatro filhos (um rapaz, duas moças e uma menininha quase temporã), o bom vizinho abrira uma vendinha, uma birosca, uma “barraca”, como chamávamos, naqueles idos, aqueles pequenos comércios de bairro. Ao lado disso, o nosso empreendedor palhassequense, desconhecedor ou desrespeitador da lei, esse misto de salvaguarda social e grande estraga-prazeres, resolveu iniciar, dentro de sua casa e no convívio de sua família, uma, depois duas mesas de jogo. Isso mesmo: o homem das transações resolvera instalar um “cassino” em pleno 94
Jardim Nazaré, que é o nome verdadeiro e honrado do nosso hoje difamado Palha Seca. Um rodízio entre variados jogos de baralho (da ronda ao truco, do buraco ao vinte-eum) e ainda dados e dominó, quando não a prosaica purrinha, jogos que eram praticados à exaustão, indo por vezes madrugada adentro, e sempre valendo dinheiro. Nada de à brinca, ali era à vera. Na época cheguei a ver gente entrar ali lá pelas 21 horas e, lá pelas 2h da madruga, sair literalmente pelado – isso mesmo, peladão – pois apostara a ROUPA DO CORPO e, não sendo usuário de cuecas, teve que sair pelado, correndo pela night até sua casa... Nosso anti-herói Renato foi um dos tais a escapulirse – ou ser ejetado para a sarjeta da rua – liso, tesado e como veio ao mundo... Bem, toda essa confraternização era regada à muita cachaça, o hidromel dos deuses morenos dos trópicos. Assim nosso amigo gerente de cassinos complementava a renda, e também vendendo os tarimbados tira-gostos do tempo: linguiça frita, ovo cozido, torresmo e vez por outra um caldo ou mocotó. Numa dessas noitadas no cassino da favelinha Beira do Rio, ainda nos inícios dos trabalhos, que religiosamente se iniciavam às 21h, um dos habitués do local resolveu fazer uma “presença”, um mimo aos amigos de copo e (má) sorte, e trouxe uma grande panela de frango à passarinho para servir aos convivas da casa. A novidade foi celebrada: Era realmente muita carne, bem picadinha e odorosa. O benemérito dissera ter matado três das galinhas do quintal, patrimônio de sua velha mãe, e propusera que, já que ele estava botando o tira-gosto, que os amigos lhe pagassem cachaça, muita cachaça. Sem problemas, pois. 95
Cada um que chegava ia se fartando naquela riqueza, bem fritinha e espantosamente gratuita. Até a família do amigo – sim, a criança e as mocinhas eram obrigadas a conviver e interagir com aquele ambiente sinistro em sua própria sala – também se serviram a gosto. Enquanto isso, o nosso amigo aproveitava para pedir, na conta dos demais, boas doses de cachaça e suas variantes destiladas – uma verdinha aqui, um Domecq ali, um licorzinho de coco acolá. Os jogos iam animados e os ânimos, turbados pelo álcool, explodiam em sorrisos naquele miserável lazer suburbano. Foi quando alguém, sem qualquer maldade, perguntou ao indivíduo que lhes fornira com tão saboroso e farto repasto: – Ô Gambá, você não vai comer não? Pego assim de surpresa, enquanto tomava um dedo de Catuaba, que era para tonificar o espírito, nosso amigo alegou: – Ciço, já comi muito em casa, enquanto estava cozinhando. Tô legal... – Pô, mas já são quase duas da manhã. Desde que você chegou não comeu nada, e sempre come bem... – Que nada meu cumpadre, comi bastante em casa mermo, fica tranquilo. Hoje eu só quero beber. Ô Dudu, bota mais um dedinho de Catuaba aqui pro seu amigo. Ao longo de todo o seu período de permanência ali no “estabelecimento”, Gambá (esse era o apelido do bruto, um sarará parrudo, baixinho, morador do Campo Novo) era o mais feliz, e isso entre felizes. Sorria como um palhaço, enquanto via os amigos fartarem-se com aquela iguaria preparada com carinho. Um coração de ouro o Gambá, quase santo, digno filho de São Gonçalo. 96
Após o diálogo acima, travado com o Ciço, o embriagado Gambá, que passara da conta habitual valendo-se da boa-vontade alheia em pagar pela bebida, emendou a sorrir ainda mais. A cada vez que alguém pegava um daqueles últimos pedaços de frango, ele, com aquele brilho mortiço no olhar, comum aos ébrios, sorria com gosto – ou quase com cinismo, diria algum espírito de porco... Ao ser fisgado o último pedaço de carne daquela grande e encardida panela, estando todos já afogados nos humores e vapores alcoólicos, um dos convivas reforçou o argumento de Ciço: – Aí, acabou o frango e Gambá mesmo não comeu nem um pedaço... Aproveitando o oportuno da ocasião, o malandrim resolveu abrir seu coração, e expor a inocente, inofensiva eu diria, brincadeira: – Amigos, eu não comi nenhum pedaço pois essa carne que preparei para vocês não era bem das galinhas da mamãe. Era na verdade um urubu, um baita urubu que matei ali na Ponte Caída. E antes mesmo que a surpresa, a dúvida e a descrença pudessem manifestar suas máscaras características na audiência humilde e chapada, o sarará de olhos cor de mel entregou a sordidez de alguns detalhes: – Rapaz, o bicho é ruim de morrer! Carne dura! E na panela?!! Foram duas horas, duas horas malandro, na panela de pressão! – completou, explodindo numa gargalhada carnavalesca. Gambá, boníssimo coração, acreditou na sorte, sorte que poucas vezes o visitara naquelas mesas de jogo. Imaginou que, dado o inusitado da situação, e o teor 97
alcoólico imenso reinante nas veias dos presentes, todos levariam aquilo na direção do que aquilo era afinal – uma grande brincadeira. Mas alguém antecipou-se, e passou a chave na porta, a única porta do casebre... O que se seguiu foi uma prolongada sessão – desengonçada, hilária, ridícula, mas também cruel, medieval, horripilante – de espancamento. Os gritos do bom Gambá, Macunaíma gonçalense, sendo socado e golpeado com tudo que as trêmulas mãos dos bebuns alcançavam, acordaram meia vizinhança. O bitelo apanhou, e apanhou, e apanhou ainda um pouco mais. Sabe-se lá de onde aquele grupo de mamados encontrou forças para o linchamento; talvez do próprio Satã. Desfeita a graça e também a consciência de Gambá, o corpo desmaiado foi jogado para fora, estabacando-se na rua de chão. Sabe-se lá como Gambá chegou em sua casinha. O que se soube é que ele lá chegou já com um aviso: nunca mais deveria passar pela rua principal do Palha Seca – justamente o único caminho que ele tinha para ir trabalhar, pois andava dois quilômetros de sua casa para o ponto de ônibus, para pegar a viação que o deixava em Alcântara – sob a pena de ser, bem, literalmente despachado desta vida, como fora o pobre urubu, de tão dura – mas saborosa, alguns depois o confessaram – carne. Resultado: Além das amizades desfeitas, foram anos e anos andando não dois, mas (agora na direção contrária) coisa de cinco quilômetros, de sua casa até Maria Paula, onde podia pegar outra viação para levá-lo ao batente. 98
Amargurado por cicatrizes de corpo e alma, ferido em seu brio e espírito fraternal, Gambá, nosso Macunaíma, nunca entendeu o motivo da brutal falta de senso de humor de seus antigos companheiros de jogatina...
99
Capítulo 23 O Tempero Colombiano
A nossa breve narrativa corre para seu fim, afoita como um molecote em saída de escola. Mas deixe-me abrir aqui um parêntesis para inserir uma história de meu pai – e de como, hilariamente como, ele veio a parar neste Jardim Nazaré gonçalense. Afinal, se este parece ser um livro de memórias, minha ideia foi sempre fazer um livrinho de humor. Que esta narrativa patriarcal, algo veraz, algo fictícia – pois a literatura não tem como safar-se de tais miscigenações, para terror dos puristas da raça historial – me ajude a não ver o tiro sair pela culatra! Se o tom se emboneca, se a escrita aqui ganha firulas, é que tal texto foi (assim como o anterior, sobre outro anti-herói, o Gambá) publicado em forma de crônica independente no Jornal Daki, noticiário gonçalense mantido pelo combativo Helcio Albano. * * * Nos ribombares da pandemônica década de 60, meu pai, Mário Pedro da Silva, chegou ao estado do Rio, vindo da doce e estacionária vida em Arapongas, no interior do Paraná. Vinha em busca de glória e fama: sonhava ser ator. Ou cantar no rádio. Ou uma ponte que o levasse à Hollywood. Ou você pensou que a parte carnavalesca de meu nome, “Sammis Reachers Cristence” Silva, veio de uma inspiração superior? Talvez descendente de abnegados missionários ingleses, ou colonos alemães avermelhados pelo sol e pelo solo paranaense? Que tal de 100
Herbert Richers, o falido e antes onipresente empresário da dublagem televisa (“Versão brasileira: Herbert Richers”, lembra?). Veio dos nomes nos créditos finais dos filmes que ele, meu velho jovem pai, amava, na pacatitude da já citada Arapongas, onde o cinema era tudo o que havia, a bacia das almas. Bem, após alguns meses desavisadamente fustigantes na efervescência da capital, a inadequação de nosso herói mambembe encontrou refrigério inesperado quando ele foi convidado para ver “aquela cidade ali, do outro lado da baía”. Atravessando as águas turvazuis da Guanabara, o jovem paranaense teve uma iluminação ao conhecer a cidade onde eu vim a nascer (epa, spoiler!). A calmaria da Niterói ainda em sua meia idade lhe lembrava de alguma forma o Paraná pacatizado, pacativante, e a paixão assomou aos olhos do aspirante a James Dean. Em pouco tempo Mario estava de mala e calça boca de sino alugando quarto de pensão em Icaraí, naquela época o bairro (que já era nobre) que reunia o melhor consórcio de aprazibilidade e centralidade. Estabelecido, meu pai logo conseguiu emprego na cidade sorriso e pôs-se a fazer amigos. Na própria pensão em que se instalara, havia os mais diferentes tipos. A tal pensão tinha sua legislação, como é (epa, ao menos era) de praxe em tais repúblicas. Nada de mulheres; nada de cozinhar nos quartos; divisão de quartos? No máximo entre dois homens. A dona da pensão era o coração pulsante do lugar, e ela mesma uma figura da mais relevante singularidade. Bogotana, filha da Bogotá de nossa vizinha Colômbia, ninguém nunca soube o que ela viera fazer naqueles idos por aqui. A suspeita que liderava as pesquisas era que a 101
agora velha Consuelo, jovem ainda havia se apaixonado por algum cafajeste viajor, que a trouxera para as paragens braileñas, e aqui a abandonara à própria e mala sorte. Era ela, a querida de todos na pensão, que proporcionava o momento mágico da vida daqueles senhores, homens e rapazes que ali habitavam, durante o jantar (a pensão servia apenas café da manhã, simplório, e jantar. O almoço cada um tinha que filar ou comprar em outras paragens). A comida, sempre exuberantemente saborosa, mesmo nos dias de maior frugalidade, entorpecia os ânimos e estômagos de todos aqueles que, felizardos, a provassem. Uma cozinha primorosa, cercada como convém de segredos (era terminantemente proibido que enxeridos penetrassem na casa de dona Consuelo durante a elaboração dos pratos) e com doces toques de exotismo era ali praticada; uma cozinha que merecia até estar aberta ao público, e mais, a um público mais seleto do que àquela coletânea de solteiros que se refastelava nas panelas. Solteiros que, cientes da bênção que era sorver aquela cozinha encantadora, segredavam entre si o privilégio que era morar naquele lugar, se por mais nada, ao menos pela comida fulminante. Contrariados, evitavam estender-se em elogios, embora os mesmos fossem algo inevitáveis: temiam que a boa senhora abrisse um restaurante, caso em que certamente faria imediata fortuna, e de uma única e mesma facada lhes fossem surrupiadas a estalagem e a boa comida... Após o repasto, a alegria descia sobre os agregados; as conversas se expandiam. Tímidos passavam a palrar como canários; os já faladores eram então insuflados a animadores de auditório. As cantorias tomavam o ar de torneios, de “Festivais da Canção” onde duelavam-se 102
sorridentes convivas. Havia algo de mágico naquele ambiente, e era sempre após o jantar que aquela magia socializadora ou destimidizadora parecia explodir. Certa feita o silencioso Abelardo, aprendiz de oculista, e que normalmente mal despachava um “bom dia, boa noite” aos companheiros de pensão, pôs-se a rodopiar em dança, solitário, olhos cerrados, como que arrebatado; seu bailar, aplaudido pelos demais, estendeu-se portão afora da república – e lá foi o Abelardo, antes tímido que só ele, dançarolando pela calçada, ao som de algum acompanhamento musical que só ele ouvia (pois não havia música a tocar), para espanto dos poucos transeuntes daquele trecho. E o Fernando, policial turrão e engomado, príncipe da empáfia e da arrogância militaresca, que, sempre que tocado pelos benfazejos vapores do jantar, punha-se a pedir perdão aos companheiros por seu comportamento usualmente arrogante? Certa feita receitou, de improviso, um belo poemeto em honra da amizade, declamação que o levou embaraçosamente aos soluços lacrimais. Mas o efeito mais bizarro daquela felicidade pósbanquetal se dava sobre o Rui, pernambucano cabo da Marinha de Guerra, varonil mulherista e mui cioso de sua elevada posição (cabo, como disse) na hierarquia militar. O brincalhão e pretensamente galanteador marujo, negro de média estatura, peitoral proeminente, belos olhos de um castanho claro que ele alegava serem os terrores do mulheril, quando de barriga cheia e engolfado pelo clima descontraído que se sucedia àqueles jantares, ganhava um brilho diferente no olhar. Primeiro era seu riso, que se alongava; em seguida suas gesticulações passavam a ganhar mais vida, mais curvas; a marcialidade de seus 103
movimentos cambiava para uma leveza quase... quase feminina. E assim, sorrindo largamente até as gargalhadas, traquejando com inesperada malemolência, o Rui, agora levantado de sua cadeira, passava então a apertar e massagear os ombros dos amigos, alisando os cabelos de um aqui, ajeitando a gola de outro ali... O que no princípio inevitavelmente descambou em algumas confusões, mas rapidamente aquela “transformação” foi absorvida pela geleia geral daquele festim diário de pós-expedientes. O desenlace de nossa historieta teve seu início com o aperto e a correspondente esperteza de meu pai: conhecedor da proibição de cozinhar nos quartos, o jovem paranaense, talvez contaminado pela mítica malandragem carioca, resolveu transgredir a lei em nome da economia: conseguindo um pequeno fogareiro de um bocal, movido à prosaico querosene, passou a cozinhar pequenas porções de macarrão ou outras basicalidades dentro do quarto; para isso, todos os dias na hora do almoço voltava para a pensão a título de descansar justamente o “almoço” que alegara já ter consumido no centro de Niterói... Em pouco tempo nosso herói, tão inábil na cozinha quanto um cego, passou a ressentir-se de ter que comer seu macarrão ou arroz ou o que fosse sempre maculado pela mais insossa sem-saboria. Já não sabia cozinhar; “mal” acostumado que ali fora a uma cozinha dos deuses, amargava cada colherada de sua própria comida como um condenado. Um dia o estudante autodidata de inglês, que ainda sonhava em conhecer Hollywood, teve um insight: e se ele conseguisse dar uma expiada na dona Consuelo enquanto ela cozinhava? A velha era irredutível nesse ponto, mas ele poderia bolar algum tipo de burla para conferir como 104
aquela maga temperava suas comidas. Não deveria ser tão difícil. Nosso mais novo malandro já não suportava a tortura de almoçar sola de sapato e jantar manjares e ambrosias... Um belo dia meu pai saiu um pouco mais cedo do trabalho (nesta época já trabalhava como contínuo na Facit, no centro de Niterói) e dirigiu-se para a pensão. Ali, esgueirou-se pela parte detrás daquele conjunto de quartos, já com um tamborete nas mãos, para dar altura à pequena janela que fundeava a cozinha da velha, e lá se espichou ele para observar qual o segredo dos temperos da dona Consuelo. Observou por um tempo considerável enquanto a velha picava carne para um ensopadinho, cozinhava uma formidável panela de arroz e remexia um feijão que estranhamente não levava alho, mas ficava sempre delicioso. A atenção do malandrete estava concentrada no momento das temperanças, pois ali ele esperava descobrir ao menos algo que pudesse replicar, ainda que porcamente, a fim de mitigar o gosto já intragável de sua comida. Pendurado e atento em seu tamborete, o jovem viu a idosa estrangeira sacar de dentro de um armário uma chusma de matos diversos. A velhinha pôs-se a picar bem finas algumas folhagens; meu pai estava atento: pôde reconhecer cebolinha, aipo e talvez cardamomo. Mas então a matrona bogotense ou bogotana apanhou um grande pote plástico e dele sacou uma outra erva. A velha espremeu algumas das estranhas folhas nos dedos, e pareceu sorver seu aroma por alguns instantes; depois pôs-se a arrancar pedaços daquelas folhas estreladas e jogar dentro de todas as panelas que tremelicavam no fogão. 105
O ex-matuto de roça e aprendiz de haute coisine já havia visto aquela erva fina, mas não fora nas pequenas roças de fundo de quintal naquela terra roxa e fértil do Paraná, nem nas vendas e armazéns, quando sua madrasta lhe mandava ir até lá comprar este ou aquele item; quem lhe mostrara aquele tipo de tempero fora Fernando, o policial ferrabrás, que certa feita exibia numa revista de sua corporação imagens daquela exótica planta, tão em moda naqueles idos da década de 60. O desconcerto da informação, sub-reptícia e algo dura de equalizar, derrubou meu jovem pai estatelado no chão. Enquanto caia de sua banqueta, num daqueles fenômenos de slow motion que gostam de acontecer nos momentos dramáticos de nossas vidas, o jovem cinéfilo paranaense revira em flashback toda aquela espalhafatosa alegria pós-pasto; a música, as piadas, o gracejos e traquejos e a felicidade quase mágicas que assomavam a todos os republicanos da pensão de dona Consuelo. O motivo estava agora claro, pensava o magricela enquanto pranchava suas costelas contra alguns pedregulhos do chão. Sabe-se lá por que cargas d’água (e a que custo, meu Deus, a que custo!), dona Consuelo temperava todos os seus pratos com frescas folhas de maconha... *
*
*
*
*
*
Deglutidos os embaraços, o jovem migrante paranaense não pensou uma segunda vez. Reuniu seus vinténs e avançou ainda mais mato adentro: Comprou uma caxanguinha em nossa São Gonçalo, longe dos exóticos 106
temperos colombianos. Bem, nem tão longe assim, mas essa história todos conhecemos...
107
Capítulo 24 Epílogo
Esse nosso núcleo comunitário da Beira Rio foi desagregado, em inícios da década de noventa, por uma pequena tragédia: Uma cheia catastrófica do Rio Alcântara. Graças a Deus, vidas não foram ceifadas, mas casas inteiras se perderam, ou partes delas, ficando neste caso a estrutura restante em geral comprometida. O Estado, essa enxertia ou quimera de lobo com tartaruga, finalmente resolveu intervir. A solução encontrada foi doar terrenos, junto com uma pequena indenização, para todos aqueles moradores que moravam nas margens do tal rio – ou ao menos aqui, em nosso trecho de rio. Os lotes foram distribuídos na Rua Dalva Raposo e nos morros a ela fronteiriços, que eram relativamente próximos de nosso lugar. Essa praticamente é a origem de toda a grande comunidade favelizada que hoje se ergue no local, múltipla e setorizada, cujos setores levam nomes como Cabrita e Mangueirinha, e até o nome geral “condomínio de barro”, expressão pejorativa que alguns daqui, igualmente pobres tal como os de lá (na verdade, logo ali), costumam referir. Trata-se enfim de uma extensão de espaço abarcando alguns quilômetros de moradias e abrigando milhares de moradores: O tal “Complexo da Palha Seca”, assim nomeado até no Google Maps. 108
Sim, tudo começou com menos de três dúzias de famílias, realocadas da Rua Manoel Bandeira, a “Beira Rio”, para lá. Se hoje aquilo tudo e tudo aqui é chamado de Complexo da Palha Seca, antes, para nós do Jardim Nazaré aquele trecho era chamado simplesmente de Estrada Velha ou mesmo Areal, em virtude da usina de areia que, por muitos anos, esteve em frente à entrada do bairro, lá quase no início da RJ 106. Como dito, não havia tanta gente aqui na Beira do Rio para povoar aquelas imensidões de terra: Após esses primeiros moradores, outros terrenos continuaram a ser doados a pessoas de baixa renda não diretamente afetadas pelo rio, e depois até mesmo comercializados por grileiros, os onipresentes vampiros de chão. Assim, pessoas de muitos outros lugares de grande parte da região metropolitana fluminense – São Gonçalo, Niterói e até Itaboraí (recordo que minha própria mãe conseguiu por lá um terreno para ajudar uma família que havia sido “expulsa” de Itaboraí) foram ocupando aquele lugar, antes apenas uma sequência de montes e morros recobertos pela característica vegetação de cerrado, com muito pequenos pontos de Mata Atlântica aqui e ali. Assim, a maioria de meus companheiros de brincadeira, inclusive Renato e sua família, foi realojada – e as relações se pulverizaram, pela distância, que nem era tão grande, mas principalmente pelas lides da vida, os transtornos e transformações que vinham na garupa da adolescência e vida adulta. Outros companheiros ainda na infância se haviam apresentado, a foi ao lado deles, amigos na acepção mais 109
rica do termo, que me transcorreu a adolescência – meu até hoje melhor amigo, Wilson, com quem vivi também um bom número de aventuras; os irmãos Ronaldo e Ronilson, idem; e Ademilton “Bolotinha”, meu companheiro de jogatinas no Nintendo 8 bits... Minha relação com Renato, que então morava na Dalva Raposo, passou a ser a dessa camaradagem esporádica entre antigos amigos e conhecidos, baseada num “e aí, qual é?” “Fala aí, como você tá?”, quando nos cruzávamos, e um ou outro raro momento de rememoração de presepadas. Infelizmente a vida de Renato foi ceifada muitas décadas antes da hora. Tendo iniciado seu contato com a cachaça ainda na infância, na adolescência Renato voltou a beber, e em determinado momento aquilo se tornou um vício, cujo crescente acabou lançando-o numa precoce cirrose hepática e numa internação, onde ficou entre a vida e a morte. Recuperando-se, teve uma nova chance na qual deveria, sob risco de vida, manter-se para sempre longe do álcool. Mas infelizmente nosso amigo não teve forças suficientes, e, recaindo no vício, veio a óbito com apenas vinte e quatro anos. Negro, pobre, analfabeto, de vida roubada: Que este humilde opúsculo lhe sirva de homenagem, lhe resguarde um pouco, e espero que o melhor e o mais feliz, de sua memória. *** *** *** *** ***
110
A aventura de todo escritor, a aventura que é escrever, começa sempre no mesmo lugar: Na leitura. Quanto a mim, aprendi a ler praticamente na Bíblia. Ou nela exercitei a prática da leitura. Não por instrução dos pais, que eram católicos nominais assim não muito preocupados com essas coisas, mas por conta própria, mix de temor e curiosidade. A história do Nazareno, que um dia me haveria de resgatar, já se me apresentava maravilhosa e perturbadora. Que estranho herói, que dava a outra face e oferecia-se à morte! Sempre que podia, eu pegava uma antiga edição popular do Novo Testamento, chamada de O Mais Importante É o Amor, impressa em papel jornal e que era distribuída gratuitamente em muitos lugares àquela época. Me lembro de que lia do evangelho de Mateus até o livro de Atos apenas, isso porque depois dos cinco livros iniciais vinha o livro ou a carta de Romanos, que é pura e densa teologia, seguido por outros na mesma linha, elucubrações de que uma criança de primeiras letras não entendia lhufas. Assim, após concluir a leitura dos “livros de ação” (Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos), retomava de Mateus. Em termos escolares, quem me ensinou as primeiras letras foi a tia Sônia, que por sinal foi professora de oito em cada dez jardim-nazarenos, e ainda está na ativa, sendo hoje minha amiga. Outro dia mesmo ela, desfazendo-se de parte de sua biblioteca, lembrou-se generosamente de mim e me confiou diversos tomos, de Shakespeare a Monteiro Lobato. 111
Sua escola ficava aqui bem próximo de minha casa e, após mudar de lugar diversas vezes, hoje retornou ao mesmo ponto inicial. Depois dela, caí na tarrafa dum tal Ursinho Branco – colégio escolhido por minha mãe pelo fato simples de que seus muros eram altos demais para permitir minha fuga. Sim, pois eu que hoje sou professor era arredio aos ordenamentos e firulas da escola, que sempre tolerei sem, dura confissão!, jamais amar. O tal Ursinho era situado no já referido e malfadado Buraco Quente. Essa profissão de fé ou todo esse cerca-lourenço é para falar que, da Bíblia, sempre me intrigou e maravilhou o trecho final do evangelho de João (capítulo 21, versículo 25): “E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem.” Assim, se todas as aventuras, causos, presepadas e dramas acontecidos aqui, NUM ÚNICO BAIRRO E APENAS EM MINHA GERAÇÃO, fossem relatados, este livretinho seria inflado a vários tomos de densas narrativas. Mas espero que estas poucas linhas, escritas primeiramente para mim mesmo, possam dar alguma conta deste breve trecho da grande meta-narrativa chamada Humanidade, na qual cumprimos nossa missão, que é viver e buscar a felicidade e o bem, e o Doador de ambos – com o máximo de bom humor possível nesse processo.
112
Sobre o autor Nascido em 1978 em Niterói, mas desde sempre morador de São Gonçalo, ambos municípios fluminenses, Sammis Reachers é poeta, escritor, antologista e editor. Autor de dez livros de poesia e três de contos/crônicas, organizador de mais de quarenta antologias e professor de Geografia no tempo que lhe resta – ou vice-versa. Como autor, publicou: POESIA • São Gonçalo de Todos os Santos (1999). • Uma Abertura na Noite (2006). • A Blindagem Azul (2007). • CONTÉM: ARMAS PESADAS (2012). • Poemas da Guerra de Inverno (2012, 2014, 2021). • Deus Amanhecer (2013). • PULSÁTIL – Poemas canhestros & prosas ambidestras (2014). • GRÃNADAS (2015). • Poemas de Amor em Trânsito (2018). • Cartas & Retornos (2021). CONTOS / CRÔNICAS • O Pequeno Livro dos Mortos (2015). • RODORISOS – Histórias hilariantes do dia-a-dia dos Rodoviários (2017, 2021). • Renato Cascão e Sammy Maluco – Uma dupla do balacobaco (2021). 113
Leia mais de meus textos em alguns de meus blogs: www.marocidental.blogspot.com www.azulcaudal.blogspot.com www.opoemasemfim.blogspot.com www.jornaldaki.com.br/blog/categories/sammis-reachers
114
115