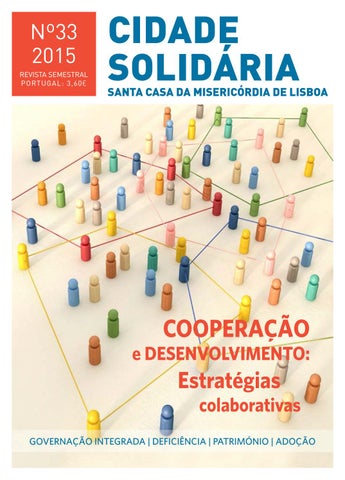Nº33 2015 REVISTA SEMESTRAL PORTUGAL: 3,60€
CIDADE SOLIDÁRIA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
COOPERAÇÃO
e DESENVOLVIMENTO:
Estratégias colaborativas GOVERNAÇÃO INTEGRADA | DEFICIÊNCIA | PATRIMÓNIO | ADOÇÃO
HOSPITAL DE SANT’ANA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA O Hospital de Sant’Ana está desde o seu início vocacionado para a prevenção, tratamento e reabilitação de patologias no sistema musculoesquelético, nas quais se assume como um hospital de referência nacional. Aqui encontra um corpo clínico altamente qualificado para um melhor atendimento em: Ortopedia Geral | Sub especialidades de Ortopedia (Anca, Coluna, Joelho, Pé e Tornozelo, Mão, Ombro, Ortopedia Geriátrica, Ortopedia Infantil) | Reumatologia | Fisiatria (Fisioterapia e Terapia Ocupacional) Cirurgia Plástica | Dermatologia | Medicina Interna| Nutrição | Oftalmologia| Otorrinolaringologia | Psicologia Pode também realizar e marcar os seguintes exames: Ecografia, Osteodensitometria, RX, TAC e Ressonância Magnética Marcação de exames: T. 21 458 56 21 (14h00 - 17h00) E-mail: imagiologiahosa@scml.pt Presencial: 11h00 - 17h00
-
Marcação de consultas: T. 21 458 56 14 (9h00 - 17h00) E-mail: consultashosa@scml.pt Presencial: 11h00 - 17h00
HOSPITAL DE SANT’ANA
EDITORIAL
Só há desenvolvimento se houver cooperação
N
um tempo tão marcado pela competição desenfreada e pela busca da valorização individual, não podemos permitir que as diferentes instituições que procuram acudir quem realmente precisa, não sejam capazes de sentar, dialogar, planear e executar respostas comuns para problemas de todos. Esta tem sido a linha que procuramos seguir na SCML. Procurar fazer o bem, junto de quem precisa, mas de braços dados com quem já está no terreno. Isto é um exemplo do setor social, mas que também pode e deve ser replicado nos mais diversos setores da nossa economia. Portugal, um país com as vicissitudes que tem, deve ser capaz de entender as suas fragilidades e potencialidades. Quer o setor político quer o setor empresarial só ganham com uma nova forma de estar e trabalhar. A substituição da lógica de competição pela lógica de cooperação é um passo dado para alcançarmos o desenvolvimento. É um novo paradigma assente numa harmonia de sociedade. Mais coletiva, mais apoiada e mais saudável. Bem sei que, por vezes, essa cooperação ou colaboração é difícil de fomentar ou alcançar. A União Europeia definiu 2015 como o “Ano Europeu para o Desenvolvimento”, mas estamos todos conscientes de que, muitas vezes, é a ausência de cooperação ou colaboração entre os Estadosmembros que impede que se progrida ou se desenvolva uma determinada política com efeitos concretos para as populações. A ausência de uma estratégia comum para fazer face ao drama das migrações no espaço euromediterrânico é exemplo dessa falta de colaboração. Fica uma Europa por construir, que seja mais coesa e mais solidária. Numa altura em que a sociedade espera respostas sociais assertivas e eficazes, não há espaço para “quintinhas” ou “feudos”, nem tempo para entropias ou dificuldades. É por isso que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para dinamizar e agilizar a colaboração e cooperação entre todos nós, que fazemos parte desta Equipa Santa Casa. Tenho procurado incutir esse espírito e tentado transmitir as virtudes que daí resultam no nosso trabalho quotidiano. Acredito que, trabalhando em rede, numa lógica de parceria e efetiva cooperação, é possível potenciar os recursos e as ideias desenvolvidas nas mais diversas instituições. Não vale a pena a duplicação de esforços ou a vontade de reinventar a roda. Juntos fazemos mais. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Pedro Santana Lopes 3
Editorial.indd 1
31/08/15 14:09
SUMÁRIO
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS
DESTAQUE 6
12
40
6
Um ecossistema social para a sustentabilidade Mário Parra da Silva
12
A cooperação na linha do desenvolvimento: contributos para os objetivos do milénio Instituto Camões
16
Cooperação global na Santa Casa Ana Barbosa Gavela
26
Estratégias colaborativas num clima em mudança. A experiência da Oikos João José Fernandes
34
Colaboração: a chave para a governação integrada Rui Marques
40 46
Nancy Roberts. Encontrando o espaço do problema
52
Cooperação e Misericórdia João César das Neves
Uma tipologia das estratégias de transição Philippe Vandenbroeck
SOCIAL 54
Clientes muito vulneráveis. A gestão de casos como estratégia colaborativa Sofia Rodrigues
62
Parcerias e educação para a cidadania Hermano Carmo e Ana Esgaio
68
As Equipas de Apoio a Situações 1.ª vez e as estratégias colaborativas. Viagem para um novo paradigma Sofia Júdice et al.
76
As Equipas de Apoio a Idosos: novos desafios, novos modelos de intervenção Rita Tavares et al.
82
A inovação mora aqui tão perto… Um futuro para quem envelhece Inês Rodrigues e Maria José Relvas
90
Sistemas de informação geográfica. Instrumento estratégico para a intervenção social de proximidade Luís Conceição e Gelson Pinto com a colaboração de Diogo Mateus
68
82
4
004-005.indd 4
28/08/15 11:15
SOCIAL 98
Boas práticas de formação em adoção Sandra Costa Silva
SAÚDE
116
108
O impacte da deficiência nas relações familiares Graça Sobral et al.
116
Tratamento inapropriado no doente idoso Maria Augusta Soares
124
Profilaxia do tromboembolismo venoso no doente ortopédico Inês Fernandinho
HISTÓRIA E CULTURA 152
130
As antigas hagiografias de São Roque de Montpellier: uma questão em aberto Paolo Ascagni
138
Do Recolhimento das Órfãs ao Instituto de São Pedro de Alcântara Luísa Colen
152
Mente, matéria e vivências. Algumas reflexões sobre a(s) forma(s) como concebemos o património Gonçalo de Carvalho Amaro
160
176
SOLIDARIEDADE 160
Património de pessoas para pessoas Helena do Canto Lucas
170
Lidar com múltiplas carências Oliver Hilbery
176
Mais longe na formação, mais fortes para a vida Maria João Matos
180 LEGISLAÇÃO
181 LIVROS
182 AGENDA
> FICHA TÉCNICA
DIRETOR: Pedro Santana Lopes DIRETOR-EXECUTIVO: Samuel Esteves CONSELHO EDITORIAL: Ana Salgueiro, Alexandra Rebelo, Catarina França, Francisco D’Orey Manoel, Helena Lucas, Margarida Montenegro, Maria João Matos, Mário Rui André, Rita Chaves e Samuel Esteves PROJETO GRÁFICO: Catarina França. PAGINAÇÃO: Ana Lopes e Catarina França. EDIÇÃO DE CONTEÚDOS: Ana Gomes. REVISÃO: J. L. Baptista. APOIO LOGÍSTICO: José Carlos Gonçalves. SECRETARIADO: Antónia Saldanha. COLABORADORES PERMANENTES: Laurinda Carona e João Fernandes EDITOR: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA. Largo Trindade Coelho – Apartado 2059 – 1102-803 Lisboa. ASSINATURAS: SCML – Revista Cidade Solidária/Remessa Livre n.º 25013 – 1144-961 Lisboa (não necessita de selo). Tel.: 213 243 934 IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Gráfica, Lda Tiragem: 5000 exemplares | Depósito Legal n.º 126 149/98 | Registo no ICS: 121.663. ISSN: 0874-2952
5
004-005.indd 5
28/08/15 11:15
| COOPERAÇÃO |
UM ECOSSISTEMA SOCIAL PARA A SUSTENTABILIDADE O projeto das Nações Unidas designado Global Compact propõe que a sustentabilidade e a responsabilidade social sejam os suportes concetuais de estratégias colaborativas, visando a cooperação e o desenvolvimento. A cidadania pessoal e empresarial é fundamental na construção de futuras estratégias colaborativas e na “arquitetura para um mundo melhor”. Texto de Mário Parra da Silva [REPRESENTANTE DA REDE PORTUGUESA DO UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT]
6
Untitled-1 6
28/08/15 11:16
| DESTAQUE |
I
maginem-se duas pequenas comunidades que procuram a sua sobrevivência em período de invasões e saques. Perante o perigo, a escassez e os ataques inimigos, a comunidade A reage desunida e dispersa, cada um procurando o seu acordo ou o seu escape. Já a comunidade B reforça a sua unidade e coordena os esforços. A comunidade A tem enormes probabilidades de ser extinta, mesmo que alguns sobrevivam. A comunidade B tem boas probabilidades de se salvar, mesmo que alguns pereçam. Desde que a humanidade existe que se coloca este dilema entre o “salve-se quem puder” e a “estratégia de cooperação” aos que vivem tempos de escassez, mudança, insegurança e ameaças externas. Na génese das Nações Unidas está a ideia de cooperação internacional para um desenvolvimento inclusivo e harmonioso de toda a humanidade, condição essencial para a paz entre os povos. Nesse sentido, Kofi Annan, enquanto secretário-geral, reconheceu que as empresas (business sector) poderiam ter um papel motor na aplicação dos princípios fundamentais das Nações Unidas, no que se refere ao ambiente, direitos humanos e direitos laborais, a que se acrescentou, mais tarde, o imperativo do combate à corrupção. Assim nasce o United Nations Global Compact (UNGC), segundo o qual as empresas passam a ser vistas não como meros contribuintes de causas, objeto de pressão e regulação por parte das políticas públicas, mas como sujeitos da sustentabilidade do planeta e da humanidade. Hoje, com mais de 12 mil entidades – oriundas de 145 países – subscritoras dos 10 Princípios, o UNGC é um dos motores da sustentabilidade à escala mundial. Em Portugal, infelizmente, apesar do empenho de entidades fundadoras – das quais se destaca a Fundação Oriente –, a adesão deixa ainda muito campo para oportunidades de crescimento. Não é fácil o associativismo empresarial em Portugal. Entre os nossos mitos reside a perigosa ideia de que existimos por nós próprios. Salvo dois pequenos períodos em que a nossa soberania foi limitada por poderes estrangeiros, tivemos, nestes oito séculos de história, muito menos problemas do
que a maioria das nações europeias, disputadas por impérios, atravessadas por guerras (por vezes, alheias) e dilaceradas por fraturas religiosas. Esta “relativa” tranquilidade doméstica levou-nos a um certo distanciamento em relação ao que se passa no mundo. Já Eça de Queirós o notava e parece que esta distância ainda continua enraizada na nossa mentalidade. Afirmo-o, porque raramente pensamos que somos apenas 2,5% (dois e meio por cento) da população da União Europeia. Toda a população portuguesa é cerca de metade da da cidade de São Paulo, dois terços da população da cidade de Istambul e menos de metade dos habitantes da cidade do México. A nossa economia é altamente dependente. Os recursos naturais – até melhor notícia sobre os mares – são escassos e as qualificações das pessoas ainda deixam muito a desejar e a melhorar. Mas temos muitos pontos a nosso favor. Transformá-los em riqueza depende da conjuntura externa, sem dúvida, mas também, em larga medida, da nossa capacidade de cooperar e criar soluções em conjunto e para o conjunto. Essa não é uma tarefa imediata e fácil. A nossa maneira de ser é, muitas vezes, demasiado fechada e feita de pequenas rivalidades, pequenos poderes, pequenas soberbas. A este perfil acresce o facto de o conjunto de crenças que informou (e informa!) os gestores das organizações económicas ser baseado na ideia do egoísmo criador, ou seja, no pressuposto de que, se cada um procurar o seu próprio benefício, o mercado fará o resto. Mas não é só no plano teórico – como a economia real já demonstrou – que, quando alguém procura o lucro sem cuidar do benefício dos outros, o sistema não prospera e todos perdem, ainda que alguns pareçam escapar ilesos a uma vida de crimes, por falta de prova. INVESTIMENTO RESPONSÁVEL “Arquitetos de um mundo melhor” é a mais recente proposta do UNGC para a construção de políticas de sustentabilidade – o objetivo dinâmico do desenvolvimento sustentável – e para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do 7
Untitled-1 7
28/08/15 11:16
| COOPERAÇÃO |
Milénio, que sofrerão brevemente uma nova formulação, para a qual os participantes do UNGC deram o seu contributo. Passaram já quase cinquenta anos sobre o autêntico big bang que foram as previsões do Clube de Roma e só agora começamos a compreender que a escassez de recursos e os impactes sobre o clima e a biosfera obrigam a uma nova economia ou, de algum modo, a um novo modelo de funcionamento na economia. É assim que o conceito de desenvolvimento sustentável evolui para o macroconceito integrador de sustentabilidade e a sua concretização ao nível das organizações se corporiza no conceito de responsabilidade social, tal como a comunidade internacional o adotou na norma internacional ISO 26000, nas orientações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e nos princípios do United Nations Global Compact.
Daqui decorre o conceito de ecossistema social, um conjunto dinâmico de relações, serviços mútuos e interdependências que maximiza a probabilidade de sobrevivência dos seus integrantes. Se a ideia de que a economia tem de estar ao serviço das pessoas e não o inverso estava já bem clara na doutrina social da Igreja, agora torna-se um imperativo de sobrevivência. Numa comunidade pequena como a nossa, a criação de valor tem de levar em conta o conjunto das partes interessadas, ou seja, o bem-estar geral e não apenas o lucro imediato da organização em causa. Mas isso nunca será possível sem que a comunidade crie e aplique regras firmes que defendam o interesse geral. Sem a forte defesa do interesse público, a nossa abertura ao exterior abrirá também as portas aos predadores (financeiros e outros), cujo interesse é a rapina de curto prazo e não a criação de valor sustentado.
COM MAIS DE 12 MIL ENTIDADES – ORIUNDAS DE 145 PAÍSES – SUBSCRITORAS DOS 10 PRINCÍPIOS, O UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT É UM DOS MOTORES DA SUSTENTABILIDADE À ESCALA MUNDIAL Integrando Portugal uma entidade económica e política regional – a União Europeia – e apesar de não se dever alhear dos referenciais mundiais, convém que observe com atenção o que dela emana. Ora estes conceitos foram o suporte da Estratégia Europeia de Responsabilidade Social, onde se lê: “Para assumirem integralmente a sua responsabilidade social, as empresas devem implementar um processo que integre preocupações sociais, ambientais, éticas, de direitos humanos e de direitos dos consumidores, nas suas práticas de negócio e estratégia principal, em estreita colaboração com os seus stakeholders, com o objetivo de maximizar a criação de valor partilhado, para os seus proprietários e acionistas e para os seus restantes stakeholders [partes interessadas] e sociedade em geral.”
Neste campo, o UNGC propõe a adesão aos Princípios de Investimento Responsável (PRI). As empresas têm sempre um interesse e um projeto de médio e longo prazo. Os acionistas é que podem limitar as suas expectativas a mais-valias de curto prazo. Não se confunda a organização com o seu acionista. Uma boa parte do desafio do futuro está em separar investidor de especulador e em possibilitar às empresas serem “boas pessoas sociais” sem que os seus acionistas o contrariem. Isso passa por aumentar o risco associado aos maus comportamentos e por punir as empresas que prejudiquem a sociedade, na ânsia de aumentar os seus proventos. Todavia, os riscos e as punições serão sempre fraca motivação. Esta terá de vir da profunda convicção de que os bons valores são mais rentáveis
8
Untitled-1 8
28/08/15 11:16
| DESTAQUE |
e mais sustentáveis. Aí desempenha um enorme papel a habilidade de criar sistemas que não só dissuadam o descontrolado egoísmo empresarial, como estimulem as virtudes nas pessoas e nas organizações. Não se pode ignorar que o ser humano é suscetível de ceder ao mais imediato, ao mais fácil, ao maior prazer. A ausência de valores éticos pode ser, em alguns, uma caraterística permanente, mas esses – por estranho que pareça – não são tão perigosos como o cidadão comum. Aqueles são facilmente sinalizados e em pequeno número. No entanto, o cidadão comum, que aqui e ali cede à tentação, não só passa despercebido como, pelo seu número, origina um prejuízo imenso. Veja-se a dimensão das economias paralelas. A responsabilidade social propõe uma sistemática cooperação entre as partes interessadas, ou seja, uma nova ética das organizações, em que o egoísmo é enquadrado pelo interesse geral. Daí decorre uma maior atenção às pessoas no local de trabalho, um maior cuidado com os consumidores, uma melhor relação com os fornecedores e uma forte cooperação voluntária no esforço de construir e manter respostas sociais para aqueles para quem o mercado não é a solução. Por isso, a Comissão Europeia afirma na já referida Estratégia de Responsabilidade Social: “Uma aproximação estratégica à responsabilidade social das empresas (RSE) é cada vez mais importante para a sua competitividade. Pode trazer benefícios em termos de gestão de risco, de redução de custos, no acesso a financiamentos, na relação com clientes, na gestão de recursos humanos e na capacidade de inovação.” Claro que só cooperamos quando existe um clima de confiança. Daí advém a necessidade de adotar normas éticas gerais, que o UNGC propôs no “Manifesto para uma Ética Global na Economia” e que enuncia, entre outras, a regra de ouro: “Faz aos outros todo o bem que gostarias que te fizessem e não faças aos outros o que não queres que te façam a ti.” A confiança gera a possibilidade de diálogo e compromissos, que por sua vez permitem estratégias concertadas e a maximização de resultados para o conjunto da comunidade.
A responsabilidade social das empresas – como pressupõe o compromisso com as partes interessadas internas e externas – possibilita a antecipação das expectativas sociais e pode, por isso, conduzir ao desenvolvimento de novos mercados e assim criar oportunidades de crescimento. Daí que a Comissão Europeia sublinhe a ideia fundamental da construção de uma sociedade melhor e de um novo sistema económico: “A responsabilidade social das empresas integra um conjunto de valores sobre os quais se pode construir uma sociedade mais coesa e transitar para um sistema económico sustentável.” Desde que, em 2010, foi aprovada a Estratégia de Responsabilidade Social para vigorar até 2014, muito aconteceu em Portugal e na Europa. Acontecimentos que confirmaram a necessidade de combater os comportamentos que conduzem a “lucros privados e perdas socializadas”, pela descarga sobre os contribuintes dos prejuízos gerados por organizações que desprezaram os valores éticos fundamentais em benefício do poder dos seus administradores e dos lucros dos seus acionistas. No final, ficámos todos a perder, como seria de prever pelo exemplo inicial deste artigo, pois os acionistas (quase todos) perderam o seu capital, os administradores o seu poder e os contribuintes o dinheiro dos seus impostos. Por isso, cresce o número e o peso financeiro dos investidores que desejam proteger-se desses riscos e preferem investimentos éticos ou, pelo menos, que obtenham algumas garantias das adequadas agências de rating. Assim, torna-se indispensável que mais informação seja disponibilizada e que aumente o nível de transparência das organizações, dificultando as manobras ilícitas. OS 10 PRINCÍPIOS Agora que estamos perto da publicação da nova Estratégia de Responsabilidade Social, que vigorará a partir de 2015, é útil lembrar algumas ideias que foram expressas no Relatório ao Parlamento Europeu, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, sobre responsabilidade social das empresas: promoção dos interesses da sociedade e via 9
Untitled-1 9
28/08/15 11:16
| COOPERAÇÃO |
para uma retoma sustentável e inclusiva1. “Considerando que se verificou uma mudança profunda na comunidade de investidores com 1123 investidores, representando 32 biliões de dólares do total de ativos sob gestão a apoiarem os Princípios de Investimento Responsável das Nações Unidas (UNPRI); considerando que o Fórum Europeu do Investimento Sustentável calcula que o mercado mundial de investimento socialmente responsável atingiu, aproximadamente, sete biliões de euros em setembro de 2010 e que oitenta e dois investidores conduzidos pela Aviva Global Investors, representando cinquenta biliões de dólares do total de ativos sob gestão, tomaram a iniciativa na Cimeira para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de apelar à obrigatoriedade da informação sobre a sustentabilidade das empresas”, pode ler-se no referido relatório. É, portanto, significativo o montante envolvido nos investimentos socialmente responsáveis, o que fornece uma base de capital – que sem dúvida crescerá no futuro – para estratégias colaborativas entre a economia puramente lucrativa e a economia social, combinando os dois “genes” para um melhor espécime: a empresa socialmente responsável, que crie riqueza partilhada pelo conjunto da comunidade, sem deixar de retribuir adequadamente os seus acionistas e de remunerar proporcionadamente os seus gestores. A ganância continuará a ser o vício mortal que ameaça este projeto. Como conviver com exigências de return on investement, muitas vezes acima do normal, por acionistas que não estão comprometidos e nem se interessam pelo futuro da organização? E como conviver com exigências remuneratórias e prémios de gestão que multiplicam por centenas o salário mais baixo em vigor na organização? Que estratégias colaborativas resistem a estas monstruosas disparidades? E, no entanto, ela move-se... A colaboração vai crescendo entre empresas, economia social, cidadãos e administração pública, impulsionada pela consciência que as pessoas de bom senso têm
sobre a impossibilidade de encontrar respostas se não reunirmos boas vontades e esforços. DESENVOLVIMENTO No nosso entender, a estratégia colaborativa que suportará a cooperação e o desenvolvimento é a sustentabilidade e as suas políticas, bem como a responsabilidade social e as suas práticas organizacionais. Não haverá solução ambiental se esta for contra as pessoas e a sua necessidade de emprego e trabalho digno. Não haverá desenvolvimento se não houver igualdade de género e de oportunidades para todos os membros da comunidade, qualquer que seja a sua origem. Não haverá criação de riqueza se apenas uma parte se apropriar dela e a comunidade envolvente empobrecer. Não haverá desenvolvimento humano se as pessoas forem desprezadas nos seus direitos e lhes for negada a possibilidade real de família, vida digna, filhos felizes e velhice tranquila. Interrogo-me, muitas vezes, se na economia lucrativa não teremos esquecido o objetivo maior do desenvolvimento económico, na ânsia de o obter, e se não estaremos a correr sem saber para onde e por quê. Como tal, a aproximação à economia social talvez nos ajude a recordar as pessoas e as suas necessidades, a busca do bem-estar e a construção de um mundo mais digno e equilibrado. Muitos compreendem que a sustentabilidade e a responsabilidade social são um poderoso motivador e condutor de novas políticas. Por vezes, até surge alguma confusão de conceitos, por origens e entendimentos diferentes. Por isso, o referido relatório pede à “Comissão para se comprometer, em colaboração com o Parlamento e o Conselho, bem como outros organismos internacionais, a alcançar uma ‘convergência’ fundamental das iniciativas em matéria de RSE a longo prazo e o intercâmbio e a promoção de boas práticas empresariais em matéria de RSE, bem como a avançar com as diretrizes estabelecidas na norma internacional ISO 26000, de modo a garantir uma única e global definição coerente e transparente de RSE; exorta a
1. (2012/2097, INI), relator Richard Howitt.
10
Untitled-1 10
28/08/15 11:16
| DESTAQUE |
Comissão a contribuir efetivamente para a orientação e coordenação das políticas dos Estados membros”. A Comissão Europeia é convidada a dar o exemplo, comprometendo-se ela própria com relatórios de sustentabilidade, a gestão ética dos seus fundos de pensões e apoiando o voluntariado entre o seu pessoal. Todos estes elementos formam, no âmbito dos princípios orientadores das Nações
um valor que se cria todos os dias, mas se perde num instante: a boa reputação. As organizações participantes do UNGC e da sua rede portuguesa procuram a criação de riqueza conjunta e os exemplos são vários. Algumas estabeleceram um novo padrão de relações com os seus fornecedores, transformando-os em parceiros de negócio. Outras criaram fortes relações de aplicação de recursos humanos, disponibiliza-
UMA BOA PARTE DO DESAFIO DO FUTURO ESTÁ EM SEPARAR INVESTIDOR DE ESPECULADOR E EM POSSIBILITAR ÀS EMPRESAS SEREM “BOAS PESSOAS SOCIAIS” SEM QUE OS SEUS ACIONISTAS O CONTRARIEM Unidas, a chamada combinação inteligente de abordagens regulamentares e voluntárias. É a suprema etapa da estratégia colaborativa: a complementaridade entre a lei e a norma, uma imposta pelo poder do Estado e a outra adotada voluntariamente pelo interesse do mercado. A primeira limitada ao espaço jurisdicional do emissor, a segunda passível de ser adotada em qualquer parte do mundo, onde uma parceria a torne num fator preferencial ou condicionante. COMPROMISSOS É este o papel dos 10 Princípios do UNGC: um conjunto simples, mas muito poderoso, de compromissos que todas as organizações económicas podem subscrever e adotar como guia para a sua atividade e as suas decisões. Em Portugal, mais de setenta entidades – onde se incluem muitas das nossas principais empresas – subscreveram esses princípios e iniciaram a sua aplicação formal e reportada em comunicações anuais, disponíveis para qualquer parte interessada consultar e verificar da sua veracidade. O UNGC funda-se nesta ideia de verificação pelos pares e pela opinião das partes interessadas, muitas vezes bastante mais eficaz do que as imposições legais, porque afeta
dos por uma combinação de voluntariado empresarial e pessoal. Umas excederam as exigências legais na criação de sistemas de corporate wellness, ou seja, bem-estar organizacional para além dos mínimos da saúde e da segurança no trabalho. Outras, ainda, incentivam o empreendedorismo, cooperam com universidades, apoiam iniciativas sociais ou protegem as famílias dos seus trabalhadores. Muitas têm avançadas políticas de promoção da igualdade de género, aderiram aos UNGC Women’s Empowerment Principles (WEP) e cooperam com associações de base, em esforços de integração de comunidade de imigrantes. Tendemos a pensar que está tudo mal, porque o bom não é notícia. No entanto, a cooperação está em curso e cada um terá de cumprir o seu dever. Este é o tempo de fazer pela comunidade, pelo nosso ecossistema e pelas futuras gerações o que estiver ao nosso alcance, criando e alimentando redes de cidadania e cooperação. O Estado fará o que puder, mas, definitivamente, o poder do cidadão cresce num mundo global. Homens e mulheres, todos temos na Organização das Nações Unidas uma imensa esperança de que dela saia uma verdadeira “arquitetura para um mundo melhor”.
11
Untitled-1 11
28/08/15 11:16
| PORTUGAL |
A cooperação
NA LINHA DO DESENVOLVIMENTO Contributos para os objetivos do milénio
Passados quase quinze anos sobre a adoção dos objetivos de desenvolvimento do milénio – enquadramento fundamental da cooperação portuguesa –, o panorama político e económico encontra-se em profunda mudança estrutural. Este novo contexto deverá ser encarado como uma nova oportunidade de fazer mais e melhor em prol do desenvolvimento e do combate à pobreza. Texto do Instituto Camões [INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, IP]
P
ortugal tem concentrado a maior parte da sua cooperação portuguesa nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste. Qualquer avaliação relativamente às vantagens comparativas de Portugal reconhecerá que a língua constitui um instrumento fundamental para a cooperação com estes países. Os PALOP possuem também sistemas administrativos e legais muito semelhantes aos existentes em Portugal. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, bem como Timor-Leste, podem ser vistos como os “parceiros naturais” de Portugal. Além da língua, existem grandes comunidades portuguesas que vivem nesses países e comunidades dos parceiros que resi-
dem em Portugal, bem como estreitas relações com as comunidades locais e importantes laços culturais e económicos. A aprovação, em dezembro de 2005, de um documento estratégico intitulado “Uma visão estratégica da cooperação portuguesa” veio permitir estabelecer de forma objetiva os fundamentais princípios e prioridades da cooperação portuguesa e confirmar, de facto, que as prioridades geográficas deveriam centrar-se nos PALOP. Em fevereiro de 2014, o Governo português aprova um novo documento estratégico – “Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa” – com indicação das principais linhas de orientação que deverão guiar a cooperação portuguesa durante o perío-
12
Untitled-2 12
28/08/15 11:22
do 2014-2020, sem, contudo, quebrar com as anteriores diretrizes, designadamente no que respeita a concentração geográfica da cooperação portuguesa. O nosso país tem, assim, procurado promover o estabelecimento de parcerias estratégicas com aqueles países de língua oficial portuguesa, as quais deverão responder às exigências da atualidade e projetar cada um dos países na senda do desenvolvimento sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) constituem o enquadramento fundamental da cooperação portuguesa. Uma parte importante da ajuda bilateral concedida aos PALOP tem sido canalizada para sectores que deverão precisamente ajudar na concretização desses objetivos, tais como a educação, a saúde, a segurança alimentar e o desenvolvimento rural, a segurança, desenvolvimento e Estado de Direito, a par com preocupações transversais importantes como a igualdade de género, o empoderamento das mulheres e a sustentabilidade
ambiental, tendo como objetivo último a erradicação da pobreza. Estes constituem também domínios importantes para Portugal no quadro da sua participação nas várias instâncias multilaterais, onde tem vindo a defender, de forma sistemática e sustentada, a importância fundamental de ser dada especial atenção aos países menos avançados e aos chamados Estados frágeis (categorias em que a maior parte dos parceiros bilaterais da cooperação portuguesa se encontra), que estão particularmente longe de atingir esses objetivos. No caso dos PALOP, os avanços na concretização dos ODM são também bastante desiguais, com Cabo Verde a destacar-se claramente na concretização de alguns desses objetivos (educação primária universal, igualdade de género e empoderamento das mulheres, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna) e a Guiné-Bissau a ficar claramente para trás na sua concretização. Mesmo em casos como o de Cabo
MOÇAMBIQUE Escola elementar na Beira
13
Untitled-2 13
28/08/15 11:22
| PORTUGAL |
MOÇAMBIQUE Escola elementar na Beira
Verde, onde os sinais são mais encorajadores, importa, contudo, que esses esforços sejam prosseguidos de forma sistemática e sustentada, tanto pelo país como pelos doadores internacionais, sob pena de virem a existir retrocessos importantes – por exemplo, em virtude de uma diminuição do apoio internacional na sequência da sua graduação a país de rendimento médio. Casos como o da Guiné-Bissau demonstram também claramente a necessidade de se caminhar para além das tradicionais áreas dos ODM e de se introduzir uma maior componente política, sendo claro que sem paz, estabilidade e adoção de medidas destinadas a reforçar a governação, o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos, não será possível realizar progressos em nenhum dos restantes domínios. Portugal atribui grande importância à apropriação e liderança dos parceiros (ownership) relativamente aos processos de desenvolvimento. Em situações de fragilidade, todavia, a capacidade dos países para levar a cabo tais processos e a capacidade do Estado para desempenhar as suas funções básicas são muito limitadas. Nestes casos, o desenvolvimento de capacidades é crucial. A cooperação técnica, que inclui a assistência técnica, a formação e as bolsas de estudo, consiste na modalidade de ajuda mais utilizada por Portugal no apoio ao desenvolvimento de capacidades.
NOVO CONTEXTO, NOVA ABORDAGEM Mas a ajuda ao desenvolvimento requer, igualmente, um compromisso a longo prazo que necessita de apoio e empenho não só da parte dos respetivos governos, mas também dos cidadãos. Com vista a sistematizar as intervenções que visam a sensibilização da sociedade civil para as questões do desenvolvimento, Portugal adotou, em 2009, uma estratégia nacional de educação para o desenvolvimento. Hoje, passados quase quinze anos após a adoção dos já referidos ODM, o panorama político e económico encontra-se em profunda mudança estrutural, sendo de realçar as enormes transformações na própria arquitetura internacional do financiamento para o desenvolvimento, que passa a incluir a participação de um número crescente de atores (bilaterais e multilaterais, públicos e privados), bem como desafios igualmente mais vastos e complexos, com recurso a novas e inovadoras modalidades financeiras. Assistimos ao papel crescente das economias emergentes e dos países em desenvolvimento, os quais passam a assumir uma responsabilidade e uma posição cada vez mais importantes, enquanto novos motores do crescimento global. Assistimos, em boa verdade, a uma mudança gradual do centro económico do mundo do Ocidente para o Oriente, do Norte para o Sul e das economias industrializadas para as grandes economias em desenvolvimento, particularmente a China, a Índia e o Brasil. Mesmo no seio dos PALOP reconhecemos claramente a existência de países parceiros cujos índices de desenvolvimento têm melhorado significativamente, levando-os a assumir maior liderança, apropriação e partilha de responsabilidades relativamente ao seu próprio desenvolvimento. A par de uma população crescente mas geograficamente desequilibrada, assistimos igualmente a profundas mudanças políticas, económicas e sociais que colocam em causa a sustentabilidade ambiental e a própria ordem mundial em que vivemos. Sabemos que o cumprimento dos ODM tem sido profundamente desigual entre os países e que, apesar dos enormes progressos e vitórias alcançados, esforços adicionais e acelerados terão de ser ainda empreendidos em muitas áreas, nomeadamente no
14
Untitled-2 14
28/08/15 11:22
| DESTAQUE |
combate à mortalidade infantil, na saúde materno-infantil, no combate às doenças infetocontagiosas, no acesso universal à educação, na igualdade de géneros a todos os níveis, no domínio do saneamento e da água potável, da sustentabilidade ambiental, entre outros. É precisamente no seio destas profundas alterações que a comunidade internacional deu início à discussão de uma “Nova Agenda para o Desenvolvimento pós-2015” que, embora conte com a especial liderança política das Nações Unidas e do seu secretário-geral, Ban Ki-moon, encontra-se presente na agenda de, provavelmente, todas as organizações internacionais e regionais. O novo panorama político e económico em que vivemos – e que trouxe também consigo uma mudança na própria arquitetura da cooperação internacional para o desenvolvimento – deverá ser fundamentalmente encarado como uma nova oportunidade de fazer mais e melhor em prol do desenvolvimento e do combate à pobreza. Até agora, o debate tem centrado a sua ação fundamentalmente no “crescimento económico”, na “governação” e na “ajuda pública financeira”. Apesar de importantes, esses elementos não são, obviamente, os únicos fatores de mudança. Há que olhar para além da simples dicotomia entre país doador / país recetor, país do Norte e país do Sul, e pugnar por uma nova abordagem da cooperação internacional para o desenvolvimento que seja mais integrada, abrangente, coerente e holística. Uma abordagem capaz de prever os grandes desafios mundiais decorrentes do fenómeno da globalização económica e financeira e, assim, responder de forma coordenada e eficaz a esses mesmos desafios. Este novo multilateralismo exige, ainda, que cada Estado assuma de forma responsável os seus compromissos internacionais e as suas novas responsabilidades na esfera internacional. A possibilidade de Portugal refletir abertamente com os seus parceiros o desenvolvimento e os desafios inerentes a uma nova agenda pós-2015 permite, por um lado, avaliar os desafios que este novo enquadramento multilateral trará para cada um dos nossos países e respetivos stakeholders – não só governos, mas também o sector privado e a sociedade civil no seu todo – e,
por outro lado, estabelecer novas parcerias, sinergias e formas de trabalho mais inovadoras e criativas, tendo em conta a necessidade de se responder aos desafios multidimensionais com que nos confrontamos, incluindo as crescentes necessidades de financiamentos inovadores, para além da ajuda pública ao desenvolvimento. Permitir-nos-á ainda rever as prio-
PAIPA – Homens fulas em Gabu rezam a agradecer o apoio recebido para a colheita
PORTUGAL ATRIBUI GRANDE IMPORTÂNCIA À APROPRIAÇÃO E LIDERANÇA DOS PARCEIROS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO” ridades estratégicas de cada país, aprendendo com os erros do passado e olhando para o futuro com a esperança de, globalmente, concebermos uma nova parceria global para erradicar a pobreza e contribuir para o desenvolvimento sustentável dos diferentes países. É precisamente neste novo contexto internacional que a cooperação de Portugal com os PALOP terá de ser estabelecida, sem esquecer que cada um destes países pertence igualmente a um espaço regional privilegiado, no seio do qual procura defender as suas posições nacionais e colher as vantagens dessa integração. 15
Untitled-2 15
28/08/15 11:22
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
COOPERAÇÃO
GLOBAL
na Santa Casa No seu 517.º aniversário, a Misericórdia de Lisboa relembra o seu precioso capital de confiança com respostas sociais inovadoras a cada ciclo de mudança. Numa atitude proativa, e dando resposta aos crescentes pedidos de cooperação, foi criado em 2013 o Gabinete de Relações Internacionais da SCML visando a internacionalização das suas atividades, cunhando uma nova modernidade à Santa Casa do século xxi. Texto de Ana Barbosa Gavela [ASSESSORA DO GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS; DIRETORA DO NÚCLEO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E PROTOCOLO_SCML]
I
deias aparentemente contrastantes como cooperação, ajuda, solidariedade, assistencialismo, cocriação, empoderamento ou caridade tendem, nos dias de hoje, não a confundirem-se mas a fundirem as suas antigas barreiras concetuais, esbatendo-se em prol de uma práxis de objetivos comuns. Das primitivas formas de organização e cooperação nacionais e internacionais às mais recentes e inovadoras estruturas societais, todas confluem para a mesma causa comum: a vivência de
corretas relações humanas numa sociedade que se deseja fraterna, participativa e equilibrada. Procura-se que, neste artigo, o leitor vivencie a tão concetualizada interdisciplinaridade, numa viagem que o leva do macro ao micro para, num posterior exercício de regresso através dessas mesmas realidades, percorrer um tempo histórico. Tempo esse em que a tradicional organização hierárquica triangular, assente num quadro espacial linear de latitude-longitude, dá lugar a uma reflexão holística
16
016-025.indd 16
28/08/15 12:09
| DESTAQUE |
de estratégias de participação circulares, à escala de um globo em mudança. MISERICÓRDIA DE LISBOA: UMA MATRIZ SECULAR DE COOPERAÇÃO Na memória da história que nos referencia, convém ter presente que a ideia primordial de misericórdia tem as suas raízes no preceito incontornavelmente cristão de caridade. Do latim miseris cor dares “dar o coração aos miseráveis” ou miserere “ter compaixão” e cordis “coração”, tem também sido interpretado como a capacidade de olharmos o outro como irmão, sentirmos a sua dor e com ele cooperarmos ao encontro de saídas e respostas para as suas urgências. Esse espírito de misericórdia originário das ordens mendicantes – franciscanos e dominicanos – veio com o tempo a converter-se em ação organizada ao modo das instituições medievais, o que sucedeu pela primeira vez em Florença, no ano de 1244. A ideia chega a Lisboa no tempo de D. João II como efeito colateral das relações comerciais entre
as duas cidades, resultante do desenvolvimento da expansão marítima, da atividade portuária e comercial que favorecia o afluxo de multidões de todas as origens e destinos. Gente que vinha à procura de trabalho, o que origina com o tempo uma degradação das condições de vida, por incapacidade de resposta a tantas solicitações. As ruas transformavam-se em antros de doença, aglomerando-se pedintes e enjeitados, numa época em que um plano de assistência pública era ainda algo inexistente. Como resposta a esta situação surgem as corporações e as confrarias, primordiais formas de organização à época, as primeiras com a missão de proteção dos interesses de grupos específicos, enquanto as segundas se dirigiam puramente à prática da dita “caridade cristã para com o seu semelhante”. É assim que, inspirada pela Irmandade da Confraria da Misericórdia e incutida de um espírito de cooperação visionário, a rainha D. Leonor funda a primeira Casa de Misericórdia, em Lisboa, a primeira do reino de Portugal, a 15 de agosto de 1498. Investida de uma missão matricial assente na configuração 17
016-025.indd 17
28/08/15 12:09
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
originária que o Compromisso estabelece quanto às obras de misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) começa por dar uma resposta social de base assistencialista. Ou seja, inicia a sua atividade orientada para ações que visavam garantir limiares mínimos de proteção social aos indivíduos, num tempo em que os apoios familiares e os contextos comunitários não eram tão considerados. Atravessando metamorfoses teleológicas, já no século xx a Santa Casa passa a incorporar dois tipos de resposta: por um lado, a assistencialista, assente numa resposta imediata às tais necessidades prementes de sobrevivência; e por outro, a providencia-
INVESTIDA DE UMA MISSÃO MATRICIAL ASSENTE NA CONFIGURAÇÃO ORIGINÁRIA QUE O COMPROMISSO ESTABELECE QUANTO ÀS OBRAS DE MISERICÓRDIA, A SANTA CASA COMEÇA POR DAR UMA RESPOSTA SOCIAL DE BASE ASSISTENCIALISTA” lista, procurando assegurar o acesso universal a um conjunto de bens materiais e imateriais (educação, saúde, habitação, cidadania) na defesa de direitos económicos e sociais. Constituindo-se juridicamente como pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, a SCML atinge hoje áreas de atuação tão diversas, que vão desde a ação social, saúde, educação, cultura, património, até à promoção da investigação científica, empreendedorismo e inovação social. Numa lógica de reinvenção permanente da criatividade, da espiritualidade e de renovação contínua, a Misericórdia de Lisboa reforça, em cada dia, a sua identidade como uma instituição de referência. Fiel depositária de cinco séculos de boas causas, tem
vindo a tornar-se numa marca forte, transportando consigo um precioso capital de confiança, com respostas sociais inovadoras a cada ciclo de mudança. OS TEMPOS QUE VIVEMOS E se “o mundo é composto de mudança”, como escrevia Camões, assim hoje em Portugal, na Europa, no mundo, tudo se encontra em devir acelerado. A economia globaliza-se, as notícias percorrem o planeta à velocidade da luz, as idiossincrasias aumentam exponencialmente. As oscilações cíclicas do sistema financeiro que começaram a fazer sentir-se de modo mais preocupante em 2008, com a chamada crise do subprime nos EUA, vêm a eclodir na crise das dívidas soberanas. Efeitos em dominó que alastram agora da Europa ao mundo, deixando a descoberto práticas especulativas sem correspondência na economia real e uma quase total ausência de controlo das entidades reguladoras e de supervisão. Num outro tempo, ainda que atual, lembrava o Padre António Vieira nas suas Cartas Diplomáticas que “mais fácil é unir distâncias, que casar opiniões e entendimentos”. O mundo hoje parece ter esquecido, de modo desenfreado, que todo o mercado fiduciário está assente na mais movediça das substâncias, a confiança, sem a qual entendimento algum terá capacidade de singrar. Perante a sua quebra, apenas resta a ameaça global do colapso. Memória de acontecimentos semelhantes desta natureza, basta recordar a crise de 1920 que originou a Grande Depressão, a ascensão dos totalitarismos e a Segunda Guerra Mundial. Teremos razões para sorrir ao futuro? Apenas uma certeza: não devemos estar desatentos às oportunidades de regeneração ou de reforma cíclica que a vida constantemente nos oferece. ALERTAS ÉTICOS Esta crise conjuntural que acaba por revelar debilidades estruturais tem, a nosso ver como sua causa primeira, um comportamento dito “humano” mas insólito, consequência do próprio desenvolvimento da globalização, é certo, mas impregnado de uma enorme aridez ética. Um relativismo e minimalismo éticos tais que geram e propagam
18
016-025.indd 18
28/08/15 12:09
| DESTAQUE |
a indiferença, assente numa diluição de direitos e obrigações, num enfraquecimento do sentido de dever e responsabilidade. Na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco enuncia que “o desenvolvimento foi e continua a ser um fator positivo, que tirou da miséria milhares de pessoas, que gerou benefícios à escala mundial, ainda que nem sempre equitativamente repartidos. Ultimamente até deu a muitos países a possibilidade de se tornarem atores eficazes da política internacional. Todavia há que reconhecer o aumento de desequilíbrios verdadeiramente dramáticos causados por aquilo que apelidarei de tristeza individualista pós-moderna e a consequente globalização da indiferença”. Não se trata somente de uma crise de valores cristãos mas antes universal e transversal a todos os credos. Já antes Gandhi, em outro continente, baseado na sua noção de “ética maior” – entendida como “aprendizagem do bom uso da liberdade e consciência do dever de cada um” –, tinha exortado que “no mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não para alimentar a ganância de cada um”. NOVAS ESTRATÉGIAS PARA VELHOS E NOVOS PROBLEMAS É certo que cada vez mais se revelam as desadequações das estruturas, processos e respostas tradicionais, exigindo-se soluções que permitam valor acrescentado e instrumentos mais eficazes de intervenção social. A crise do Estado-providência tem evidenciado os limites das instituições nas nossas democracias representativas mas, acima de tudo, as insuficiências das nossas competências como cidadãos. Certamente a pensar nisso, a União Europeia designou 2013 o Ano Europeu dos Cidadãos, elegeu 2014 o Ano Europeu da Família, fazendo recair em 2015 a proposta de balanço e reflexão sobre a Cooperação para o Desenvolvimento (sem esquecer o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo em 2012). Transversal a todas estas temáticas está naturalmente a preocupação central com o ser humano. Primeiro como indivíduo e depois como ser gregário,
convidado a repensar os seus direitos e deveres de participação ativa nas várias células ou estruturas organizativas criadas pela sociedade: da família (desde a nuclear à que inclui “os meus, os teus e os nossos”) à cidade/comunidade; do Estado-nação à Europa em que se inscreve; e daqui ao globo a que pertence, numa espécie de matrioskas ou bonecas russas. Numa visão do micro para o macro ou, se o leitor preferir ao contrário, numa lógica de “pensar global, agir local”, há que habituar a consciência de cada um a ver não apenas as árvores individualmente mas a floresta no seu todo. Ou, ainda de outra forma, a percorrer a habitual estrutura piramidal up-down-up, de modo a chegar a visões organizativas ditas circulares, de maior cocriação e corresponsabilização. Como ensinava Claude Monet, “organizar é trabalhar sobre uma tela. Por vezes já não se percebe o que é a tela e a pintura, vai-se pintando sobre a tela sem questionar nem a tela nem a pintura”. Inspirados pelas artes em novas visões interdisciplinares, alguns dos mais reputados especialistas em gestão de organizações empresariais e até governamentais vêm preconizando que as exigências dos novos ambientes competitivos têm obrigado um número crescente dessas organizações a atuarem como bandas de jazz, que vão descobrindo o seu caminho à medida que lidam com uma gama diversa
CRISE de valores transversais
19
016-025.indd 19
28/08/15 12:09
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
REDES de saber comparado
e complexa de assuntos apenas parcialmente antecipáveis. “A improvisação do jazz não é destituída de estrutura. Essa música oferece uma combinação única de estrutura e liberdade que se pode revelar preciosa para alcançar um novo entendimento sobre a essência da estrutura organizacional, seja ela nacional ou internacional.” (CUNHA, 2011).
HÁ QUE HABITUAR A CONSCIÊNCIA DE CADA UM A VER NÃO APENAS AS ÁRVORES INDIVIDUALMENTE MAS A FLORESTA NO SEU TODO” Convém lembrar que escrever, principalmente para uma revista de natureza técnica como a Cidade Solidária, deve ser, acima de tudo, um ato de responsabilidade, que reclama proximidade e identificação com quem nos brinda com o seu tempo e atenção. Tal imperativo torna agora legítimo que façamos o exercício de nos questionarmos se, por exemplo, as nossas crianças estarão hoje munidas de capacidades relacionais ou competências sociais de participação. Poderemos nós reivindicar maior proximida-
de entre políticos e cidadãos, quando pais/educadores se demitem de estar com os filhos no pouco tempo que sobra entre o emprego e a escola, tempo esse que é suprimido pelo tablet, consola ou net? Terei legitimidade de exigir que os governantes do meu país estejam responsavelmente nos seus locais de decisão se, como pais, faltamos às reuniões de escola ou nos demitimos de ir às reuniões de condomínio do prédio em que habitamos? Apenas caberá aos outros a gestão da coisa pública? Todos diagnosticam, analisam, comentam, criticam mas… que soluções sugerem, onde constroem, como participam? Recordando o ditado português “bem prega frei Tomás, ouve o que ele diz, não faças o que ele faz”, sabemos bem que mais do que mil palavras valem os exemplos ou as ações que seguimos. Fruto de moldes educacionais paternalistas que secundarizam a autonomia e a autorresponsabilização, habituámo-nos à ideia de que “o exemplo deveria vir de cima”. Mas continuará a ter de ser assim? A realidade atual começa a mostrar que a combinação entre um exercício indireto – deputados eleitos – e um exercício direto do poder pelos cidadãos é perfeitamente viável e coerente, pois estamos perante um tempo de responsabilidades partilhadas e de infinitas possibilidades conjuntas. Como tantas vezes costumo clamar, nestes tempos desafiantes, dispensam-se “Neros a cantar vendo Roma a arder”. São antes necessários edificadores de corretas relações humanas, fazedores de sentido ou construtores de significado. Numa visão integrada, à escala local surgem cada vez mais redes de saber comparado e novas dinâmicas de parceria, com a adoção crescente de práticas e metodologias participativas. Irrompe hoje, em cada esquina, uma cidadania insurgente em que reivindicar já não basta, é preciso envolvimento, compromisso e responsabilização por escolhas conscientes. E para transformar é necessário operacionalizar com programas, com iniciativas que sejam escaláveis, que tenham proximidade e sejam impactáveis, assentes em plataformas de apoio e fundos de avaliação desses impactes.
20
016-025.indd 20
28/08/15 12:09
| DESTAQUE |
O piloto de fórmula 1 Michael Schumacher recorda-nos que “desenvolvemos a velocidade mas isolámo-nos uns dos outros”. Por isso, penso que, em nome de uma maior proximidade, as distâncias devem ser encurtadas sim, mas não asfixiadas. Desde logo na família, entre neto e avô (como é o diálogo intergeracional à mesa ou fora dela?); na empresa, entre funcionário e administrador (seremos ouvidos nas reuniões?); na autarquia, entre munícipe e presidente de câmara (terão capacidade de nos receber?); no país, entre cidadão e órgãos de soberania (saberão colocar-se no meu lugar e vice-versa?); no mundo, entre governos nacionais e organismos internacionais. Como bem reflete Edgar Morin na sua obra Pensar o Milénio, “um mundo diferente não pode ser feito por pessoas indiferentes”. São indispensáveis laboratórios de experimentação social com objetivos monitorizáveis para que um novo paradigma – que aposta numa progressiva capacitação, empoderamento e autonomização de indivíduos, grupos e comunidades – tenha a capacidade de reconfigurar modelos organizativos nacionais e internacionais caducos, interligando todos os agentes da sociedade. Algumas provas dessa capacidade inovadora social são o e-government ou o orçamento participativo, o microcrédito, o banco alimentar, a teleassistência para idosos, o comércio justo ou ainda as universidades seniores, entre outros. Não se trata agora apenas de produzir novas soluções para os problemas sociais, mas de gerar dinâmicas comunitárias eficazes e permanentes porque desejadas por todos. Quando se coloca o foco e se investem os meios na investigação e no desenvolvimento, encontram-se modi operandi diferentes e até mais eficientes, sendo essa a história passada e, seguramente, a do futuro. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO: OS CONTRIBUTOS DA SANTA CASA Cunhar essa nova modernidade e proximidade à Santa Casa do século XXI, preservando o seu ADN de responsabilidade na coesão social portuguesa, reafirmando o seu posicionamento no
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
Comunidade de Países de Língua Portuguesa
EQUÍLIBRIO PARTICIPAÇÃO
COOPERAÇÃO
UNIÃO EUROPEIA
SOLIDARIEDADE
EU NÓS EMPODERAMENTO
COCRIAÇÃO ESCUTA ATENTA
CIDADES COMUNIDADES
ESTAR PRESENTE
CORRETAS RELAÇÕES HUMANAS
GOVERNOS AUTARQUIAS
FAMÍLIA
terceiro sector, são alguns dos maiores e atuais desafios da secular instituição. Consciente disso, a Misericórdia de Lisboa, através da sua administração, resolveu incrementar uma atitude proativa e, procurando dar resposta a um crescente número de pedidos de cooperação, criou em março de 2013 o Gabinete de Relações Internacionais da SCML, visando incrementar o desenvolvimento de iniciativas de internacionalização das atividades enquadradas no seu compromisso originário. Facto a que não é alheia a visão do atual Provedor, Pedro Santana Lopes, nestas matérias, já demonstrada no passado, entre 2002 e 2005, enquanto presidente da Comissão Executiva da União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA). Das muitas ações aí concretizadas, destaque para a recuperação da Fortaleza de São Sebastião da Ilha de Moçambique (a primeira erguida pelos portugueses no Índico, classificada Património da Humanidade pela UNESCO), num trabalho conjunto com o Japão; ou da Fortaleza de Cacheu, na Guiné-Bissau; ou ainda do Palácio do Governador, em Timor, entre muitos outros projetos de ensino/ formação e infraestruturas de saúde pública. No respeito pelas orientações políticas e diplomáticas que o Estado português mantém a nível internacional, veiculadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em articulação com o Ministério da 21
016-025.indd 21
28/08/15 12:09
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, tem a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribuído – enquanto pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa – para uma coerência e unidade das intervenções externas.
IRROMPE HOJE UMA CIDADANIA INSURGENTE EM QUE REIVINDICAR JÁ NÃO BASTA, É PRECISO ENVOLVIMENTO, COMPROMISSO E RESPONSABILIZAÇÃO POR ESCOLHAS CONSCIENTES” A Santa Casa tem, sobretudo, atuado como instrumento fundamental na concretização de ações que, muitas vezes, os Estados a nível central se sentem incapazes de operacionalizar, isto é, levar a cooperação à realidade prática, à ação local e concreta. Uma atividade efetivada observando o enquadramento dos Programas Indicativos de Cooperação necessários à construção dos projetos de cooperação; fluindo pela tecnicidade dos acordos de parceiros, criação de plataformas, eixos estratégicos e áreas de intervenção; atravessando objetivos operacionais, indicadores e metas, enfim, todo um esforço para que a ajuda chegue verdadeiramente a quem mais dela necessita. Ao longo da sua história, a Santa Casa tem sabido manter essa relação privilegiada de cooperação com os países de língua oficial portuguesa, nomeadamente através da dinamização das atividades das Misericórdias desses países. Num misto de resposta intercultural, assistencialista e providencialista, tem assegurado formas de assistência social, comunitária, frequentemente também hospitalar, a uma população alargada e diversa, independentemente da sua cor ou credo. Já aqui antes defendemos que, num mundo globalizado, com novas oportunidades, é fundamental apostar na partilha de experiências, na criação de
conhecimento em rede. A internacionalização tem assim como grande sinónimo a cooperação, que se traduz em grande parte na formação: de base, de reciclagem e de especialização. Preocupação sempre presente nos protocolos assinados pela Santa Casa é a de garantir que a instituição seja sempre informada sobre a afetação e rentabilização dos recursos disponibilizados. COOPERAÇÃO BILATERAL A título meramente exemplificativo dessa cooperação bilateral, cumpre-nos destacar o trabalho desenvolvido com: • São Tomé e Príncipe: recebida este ano pelo Presidente da República deste país, a SCML tem incrementado o desenvolvimento de programas de ação social de apoio à população idosa e infantil (lares e centros comunitários); serviços médicos e apoio hospitalar, bem como envio de bens de primeira necessidade no apetrechamento de diversos equipamentos sociais; • Brasil: trocas de informação recíproca ao nível da atividade das lotarias e apostas mútuas do Estado, bem como partilha de experiências profissionais na área da saúde (de notar que no Brasil, ainda hoje, dois terços das camas hospitalares do país são assegurados por Santas Casas da Misericórdia); • Cabo Verde: em 2014 foi a primeira vez que a SCML assinou um protocolo histórico de cooperação diretamente com um Estado e não com uma entidade – neste caso através do Ministério da Saúde de Cabo Verde –, para formação de pessoal médico e apoio a pacientes de traumatologia e oftalmologia. De referir ainda a colaboração técnica-legislativa na elaboração do enquadramento legal dos idosos, no âmbito do plano de ação cabo-verdiano para a terceira idade, bem como o envio de material cedido pela fundação AGAPE da Suécia – de quem recentemente recebeu uma parte significativa de um terceiro carregamento de dez toneladas de produtos de apoio recolhidos na SCML; • Moçambique: participação na associação de exploração de jogos sociais com o objetivo de angariar fundos para o apoio de soluções estruturais
22
016-025.indd 22
28/08/15 12:09
| DESTAQUE |
no combate à pobreza; renovação do apoio à Casa do Gaiato-Maputo, garantindo a alimentação de 163 crianças com idades entre os 3 e os 18 anos e assegurando a outros 652 jovens o acesso aos diversos níveis de escolaridade, cuidados de saúde e formação profissional; protocolo de formação científico-pedagógica entre a Escola Superior de Alcoitão e o Instituto Superior de Ciências da Saúde de Maputo no apoio a 112 alunos, distribuídos pela licenciatura de Serviço Social e Terapia da Fala, tendo já permitido, desde 2007, a formação dos primeiros 25 moçambicanos licenciados em Fisioterapia e 28 em Terapia Ocupacional. Quando o leitor estiver a ler - passe-se o pleonasmo - este artigo, no 517º aniversário da SCML, muito mais já se terá feito, certamente, para a criação de profissões que não existiam num país particularmente carente nas áreas da Terapia e Fisioterapia. Processo, aliás, semelhante ao que aconteceu quando, em 1957, a Misericórdia de Lisboa trouxe professores da Dinamarca, EUA e Reino Unido para formar os primeiros agentes de terapia ocupacional e terapia da fala em Portugal, formação que antecedeu a abertura do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) e da Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA). DESAFIOS DA ATUALIDADE Deverá ser esta a constante dinâmica de cooperação para o desenvolvimento entre povos, mesmo entre países com um passado colonial comum. Importa também estarmos atentos e sensíveis aos desafios do atual cenário económico internacional, no qual cidadãos destes Estados independentes têm vindo a desempenhar papéis progressivamente preponderantes na economia nacional, num impressionante redesenho de poderes em vigor até há bem pouco tempo. De olhos postos no futuro, África é decididamente um importante centro económico e político, onde mais trabalho há a fazer nas próximas décadas, e onde mais infraestruturas e equipamentos há para construir. O presidente Obama teve esta questão bem presente aquando da importante cimeira entre EUA e 47 países africanos, realiza-
da em Washington. Talvez a União Europeia não quisesse ficar para trás ao ter eleito 2015 o Ano Europeu da Cooperação para o Desenvolvimento. Ainda que saibamos que o centro de gravidade da economia mundial se desloca cada vez mais para a região à qual nos habituámos a chamar de “longínquo Extremo Oriente”. É apenas uma questão de tempo até que uma emergente realgeographie acabe por impor uma nova centralidade, com novas latitudes e longitudes, algures no cruzamento de linhas entre a China, o Japão e os EUA. Consciente do alcance do seu perímetro de ação – e naturalmente contida por balizas financeiras –, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do seu Gabinete de Relações Internacionais, tem procurado assegurar, quer em articulação com os seus serviços de Relações Públicas e Protocolo, quer de acordo com as linhas emanadas do seu Provedor e respetiva Mesa, a coordenação da internacionalização das suas áreas de intervenção.
A INTERNACIONALIZAÇÃO TEM ASSIM COMO GRANDE SINÓNIMO A COOPERAÇÃO, QUE SE TRADUZ EM GRANDE PARTE NA FORMAÇÃO: DE BASE, DE RECICLAGEM E DE ESPECIALIZAÇÃO” Assim aconteceu com as visitas oficiais à Santa Casa da ministra da Família de Malta; da Senhora de Shinzo Abe, Akie Abea, do Japão; e, pela primeira vez na sua história, foi recebido um Chefe de Estado na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Vindo da República Federal da Alemanha, o presidente Joachim Gauck, acompanhado da primeira-dama alemã, quis inteirar-se do programa United at Work (dinamização do mercado de trabalho intergeracional apoiado pelo programa Progress da União Europeia) e dos Prémios Santa Casa Neurociências (apoio à investigação de doenças neurodegenerati23
016-025.indd 23
28/08/15 12:09
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
COOPERAÇÃO SCML - CPLP
vas), felicitando a SCML pela atenção que atribui à dimensão social do desenvolvimento. Aquando da sua segunda edição, a cerimónia de entrega dos Prémios Santa Casa Neurociências pôde contar com uma digna representação do corpo diplomático acreditado em Lisboa. Países como Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Itália, Suíça, Espanha, México, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, EUA e entidades como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) quiseram marcar presença neste evento, num claro reforço da imagem da Santa Casa, contribuindo para a edificação de relações de longevidade e de cooperação entre todos. A pensar também nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, a Misericórdia de Lisboa tem estabelecido contactos com as suas congéneres em Paris, Macau e Florença (a mais antiga do mundo). Ao nível da medicina de reabilitação, a troca de formação especializada e de técnicas inovadoras tem sido uma realidade na relação com Itália, nomeadamente com o Centro Giusti, em Florença. Na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acreditamos que a existência destas comunidades portuguesas, para lá do território nacional, constituem verdadeiras forças vivas de Portugal no mundo. Como já se dizia no século xvi, “um português um
padrão, dois portugueses um abraço, três portugueses uma Misericórdia”. Uma herança partilhada por cada um dos nossos lusodescendentes, que se podem constituir em agentes altamente potencializadores da ação externa de Portugal, devendo reclamar de nós a sensibilidade e a visão estratégica de lhes dar o devido lugar nessa cadeia de valor. Na temática do apoio à investigação das designadas doenças raras foram também estabelecidos contactos com o México, Argentina, Brasil e o Estado de Israel. A Misericórdia de Lisboa celebrou ainda acordos diversos com a Fundação Aga Khan Portugal, no âmbito do desenvolvimento comunitário, e com a Fundação Fé e Cooperação, na prestação de cuidados de saúde às crianças vulneráveis afetadas pelo vírus da sida nos PALOP. Foi ainda subscrito um memorando de entendimento com o Presidente da Global Plataform for Syrian Students Dr. Jorge Sampaio, para atribuição de bolsas de estudo anuais e alojamento a jovens universitários sírios, bem como um protocolo de cooperação com o Alto Comissariado para as Migrações na operacionalização dos Centros Nacionais de Apoio ao Emigrante. Num coerente espírito de criação de redes de apoio e de uma reforçada cooperação institucional, importa assinalar a celebração de dois protocolos históricos: um com a Santa Casa da Misericórdia do Porto em matéria de empreendedorismo e inovação social, e um outro com a União das Misericórdias Portuguesas na criação do Fundo Rainha D. Leonor na área da saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao comemorar em 2015 o Ano Europeu da Cooperação para o Desenvolvimento, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reafirma, com provas dadas no terreno, o seu compromisso no apoio a regiões, países e comunidades em dificuldades, que se encontram inseridos num contexto marcado por um desequilíbrio na repartição dos recursos e de oportunidades a nível mundial. No âmbito do atual debate sobre a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, e em sede própria, teve o Gabinete de Relações Internacionais da SCML a oportunidade de fazer votos para que
24
016-025.indd 24
28/08/15 12:09
| DESTAQUE |
a União Europeia – enquanto principal doador mundial – possa aproveitar a oportunidade de reassumir o seu papel de liderança nesta área, auxiliando em primeira linha os países que dela fazem parte, em principal os que têm responsabilidades acrescidas com terceiros, como é o caso de Portugal com os países da CPLP. Uma Agenda de Desenvolvimento futura deverá assim priorizar a urgente erradicação da pobreza mundial, em especial através do apoio nas áreas da saúde, educação/formação, bem como o enfoque na defesa dos direitos humanos e no reforço da manutenção da paz, condição sine qua non, ou sem a qual nada se constrói ou mantém. Desenvolvendo uma estratégia de acordo com as suas áreas de atuação, a Santa Casa tem-se debruçado sobre a exploração de recursos financeiros alternativos aos já existentes, não descurando as recentes linhas de financiamento internacionais (oriundas das Organização das Nações Unidas, União Europeia, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico e Banco Mundial), com candidaturas que se desejam formal e substancialmente bem preparadas para a sua admissibilidade. Têm sido também contempladas a criação de parcerias estratégicas com universidades, organizações não-governamentais, entidades públicas ou privadas, laicas ou religiosas, com vista à implementação de projetos com impacte inquestionavelmente positivo nas comunidades a que são dirigidas. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem contribuído desta forma, à sua escala, para o alcance da meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, definidos em 2000 pela ONU, bem como para o seu reconhecimento enquanto agente de promoção do equilíbrio social nacional e internacional. Pois, como sempre bem lembra o Provedor desta Santa Casa, Pedro Santana Lopes: “A realidade, tal como nos é apresentada, não deve servir para nos esmagar, para impedir a ação. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem futuro, aqui e lá fora, porque esta Casa foi feita para a vida e o seu trabalho tem um extraordinário valor. É preciso que recordemos isso continuamente porque todos juntos nunca seremos demais para fazer os outros felizes!”
BIBLIOGRAFIA CRISTÓVÃO, Fernando; AMORIM, Maria Adelina; MARQUES, Maria Lúcia; MOITA, Susana – Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa: Texto Editores, 2009. 710 p. ISBN 972-47-2935-4. CUNHA, Miguel Pina – All that Jazz – Improvisação Organizacional. Revista de Administração de Empresas. São Paulo (Brasil). V.42, n.º 3 (2011), pp. 36-42. Deliberações de Mesa e Relatórios de Atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. DIAMOND, Jared – Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Viking Penguin, 2006. FRANCO, José Eduardo; CALAFATE, Pedro – Obra Completa do Padre António Vieira. 1.ª ed. Tomo I – Vol. I, Cartas Diplomáticas. Lisboa: Círculo de Leitores, 2014. ISBN 972-10-6167-4. GAMEIRO, José – Os Meus, os Teus e os Nossos. 3.ª ed. Lisboa: Terramar, 2000. 91 p. ISBN 972-710-209-3. HEINRICH, Christoph – Claude Monet. Taschen, 1995. 96 p. ISBN 3-8228-9023-5. IGREJA CATÓLICA. Papa, 2013-... (Francisco) – Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Tradução portuguesa revista. Lisboa: Secretariado-geral da Conferência Episcopal Portuguesa, 2013. LELYVELD, Joseph – Mahatma Gandhi. São Paulo (Brasil): Editora Companhia das Letras, 2012. 472 p. ISBN 978-853-59-2113-7. MORIN, Edgar – Pensar o Milénio. Edição única. Lisboa: Centro Nacional de Cultura, 2002. 203 p. ISBN 972-98812-3-5. SAVATER, Fernando – Ética para um Jovem. 16.ª ed. Alfragide: Dom Quixote, 2010. 158 p. ISBN 978-97220-2839-4. VIANA, Ana; NUNES, Natália; SERRA, Nuno; AMARO, Rogério – Conhecimentos e Práticas de Intervenção Comunitária na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: a caminho do futuro. Lisboa: SCML / Centro de Investigação Científica e Aplicada (CICA), 2013. http://www.eurocid.pt http://www.instituto-camoes.pt http://www.scml.pt
25
016-025.indd 25
28/08/15 12:09
| DESENVOLVIMENTO |
Estratégias colaborativas NUM CLIMA EM MUDANÇA A experiência da Oikos O atual contexto das alterações climáticas exige novas estratégias de intervenção nas regiões ambiental e socialmente mais vulneráveis do planeta. A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento tem vindo a redobrar esforços na redução do risco de desastres naturais, na adaptação às alterações climáticas e no incentivo ao investimento nas energias renováveis. Texto de João José Fernandes [PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DA OIKOS – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO]
A
s alterações climáticas são hoje uma realidade palpável na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, particularmente nas regiões ambiental e socialmente vulneráveis de África, da América Latina e Caraíbas e do Sudeste Asiático. A vulnerabilidade às alterações climáticas em países mais pobres implica o aumento do stress hídrico e a redução na disponibilidade de água potável, bem como uma maior
ameaça à agricultura, à segurança do fornecimento de alimentos, à saúde pública e aos serviços dos ecossistemas de que, tradicionalmente, dependem as comunidades mais pobres do planeta. Neste contexto, a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento tem vindo a redobrar os seus esforços em três domínios: 1) a redução do risco de desastres naturais, incluindo a preparação de respostas adequadas das comunidades em caso de eventos
26
Untitled-3 26
28/08/15 11:27
| DESTAQUE |
extremos; 2) a adaptação às alterações climáticas; 3) o incentivo ao investimento nas energias renováveis, principalmente em articulação com o setor agropecuário nos países em desenvolvimento. Cada um destes esforços exige uma ampla gama de conhecimentos técnicos, metodologias de ação e recursos humanos e financeiros, só possível de mobilizar em colaboração com um vasto leque de organizações públicas, privadas e da sociedade civil. A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento é hoje uma organização que se revê no perfil de “facilitadora de soluções locais sustentáveis” para os principais problemas que afetam as comunidades humanas mais pobres do nosso planeta: a fome e má-nutrição, a vulnerabilidade ambiental, a privação material e a desigualdade social, a incapacidade de erguer a voz na defesa dos direitos económicos, sociais e culturais universalmente reconhecidos. O principal requisito para uma “facilitação de processos de desenvolvimento” é a mobilização de uma multiplicidade de atores, com os seus conhecimentos, recursos humanos e materiais complementares, apesar das ideologias, credos religiosos, cultura organizacional e interesses estratégicos frequentemente díspares. Entre os atores que a Oikos procura envolver, as comunidades beneficiárias são os protagonistas a quem procuramos dar voz e ferramentas de trabalho. Para que os nossos leitores e concidadãos possam conhecer a complexidade das relações colaborativas que a Oikos tem vindo a desenvolver na construção de processos e tecnologias sociais inovadoras e sustentáveis, em função da magnitude dos desafios colocados pelas alterações climáticas, vamos ilustrar brevemente com algumas experiências levadas a cabo em geografias distintas. COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO NA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NATURAIS E NA PROTEÇÃO CIVIL Segundo dados do Programa das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR), entre 1979 e 2012 Moçambique sofreu o efeito devastador de secas (100 579 mortos), epidemias (7709 mortos) e inundações (1655 mortos).
Os ciclones foram responsáveis pela destruição total ou parcial de 358 527 habitações, as inundações causaram danos totais ou parciais em 228 932 fogos e as tempestades tropicais afetaram mais 38 570 habitações. A frequência, magnitude e custos económicos das catástrofes naturais, particularmente as dependentes dos eventos climáticos extremos, tenderão a aumentar, em função das alterações climáticas, da concentração populacional nas zonas urbanas e do aumento dos investimentos em infraestruturas.
ENTRE OS ATORES QUE A OIKOS PROCURA ENVOLVER, AS COMUNIDADES BENEFICIÁRIAS SÃO OS PROTAGONISTAS A QUEM PROCURAMOS DAR VOZ E FERRAMENTAS DE TRABALHO” Contudo, o aumento das ameaças e da exposição aos eventos extremos poderá não significar necessariamente um aumento de vítimas mortais ou de prejuízos económicos. Muito dependerá da resiliência das comunidades locais e do nível de preparação com que as instituições e comunidades possam contar no momento em que aconteçam os desastres naturais. Dito de outra forma, os danos humanos e económicos causados pelos desastres naturais são determinados quer pelo grau de exposição e vulnerabilidade aos eventos extremos quer pela capacidade de prevenção e resposta atempada dos sistemas humanos, naturais e socioeconómicos. A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento, presente em Moçambique desde 1991, com atividade muito focada na promoção da segurança alimentar e nutricional e na geração de rendimento vinculada ao desenvolvimento rural, tem vindo a cooperar de forma cada vez mais estruturada e articulada na prevenção, preparação e gestão do risco de desastres naturais. Quando, em 2007-08, as comunidades mais vulneráveis das províncias de 27
Untitled-3 27
28/08/15 11:27
| DESENVOLVIMENTO |
PREPARAÇÃO de viveiro para produtos hortícolas com canal de drenagem, Moçambique ©Oikos
Nampula e da Zambézia viram os seus meios de subsistência, as suas habitações e infraestruturas sociais serem devastados pela força dos ventos ciclónicos e das inundações, a Oikos foi chamada a intervir nos distritos de Morrumbala e Mutarara (província da Zambézia), na Ilha de Moçambique e no Mossuril (província de Nampula). Entre abril de 2007 e junho de 2009 – com financiamento da Direção-Geral de Assuntos Humanitários da União Europeia (DG-ECHO), da cooperação portuguesa, da Fundação Calouste Gulbenkian e da solidariedade de cidadãos portugueses –, a Oikos contribuiu para a reativação da produção agrícola e para o restabelecimento do acesso a água potável de dez mil famílias. Contudo, a Oikos estava convicta de que a geografia, o clima, o deficiente planeamento físico e a pobreza destas regiões moçambicanas representavam um elevado grau de exposição e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, como ciclones e inundações, exigindo uma aposta estratégica na preparação e prevenção de desastres e no aumento da resiliência das comunidades locais.
Assim, entre 2007 e 2009 foram estabelecidos Comités Locais de Gestão de Risco, foram introduzidas melhorias nas técnicas de construção de habitações e infraestruturas de armazenagem de bens e produtos agrícolas. Realizaram-se ainda aperfeiçoamentos no âmbito da salvaguarda de embarcações e materiais de pesca, e ainda em programas de formação, dirigidos a 1080 estudantes, sobre redução do risco de desastres e meios de subsistência, estudantes esses que se tornaram animadores comunitários sobre gestão de risco. Entretanto, o trabalho de redução do risco de desastres tem vindo a ser alargado: i) na adaptação dos sistemas de produção agrícola às alterações climáticas – introdução de variedades de ciclo curto, agricultura de conservação, adequação dos sistemas de irrigação, etc. –, fortalecendo a sua resiliência; ii) na criação de sistemas de alerta precoce e na organização dos Comités Locais de Gestão de Risco; iii) na melhoria das práticas de construção das habitações e infraestruturas sociais; iv) no envolvimento de estudantes e profes-
28
Untitled-3 28
28/08/15 11:27
| DESTAQUE |
sores em programas de educação e sensibilização comunitária, usando ferramentas participativas como teatro social e o envolvimento das rádios comunitárias. A organização dos sistemas de proteção civil e de redução de desastres está agora a ser trabalhada nas províncias da Zambézia e de Nampula, beneficiando diretamente uma população superior a cem mil pessoas, com o apoio financeiro da DG-ECHO e da cooperação portuguesa. Este trabalho – iniciado em 2007 e que deverá continuar, pelo menos, até final de 2015 – só foi possível porque a pacificação do país na década de 1990, o trabalho das ONG internacionais e locais na reabilitação do país no pós-guerra e o fortalecimento das instituições públicas moçambicanas verificado na década seguinte criaram as condições adequadas ao aprofundamento e sustentabilidade da cooperação internacional. A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento estabeleceu estreitos laços de colaboração com organizações públicas moçambicanas – que vão da articulação institucional ao desenvolvimento de consórcios de gestão e implementação de projetos –, como o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades ou as autoridades provinciais e distritais ligadas à Agricultura, Educação e Obras Públicas; organizações não-governamentais moçambicanas – como a LUARTE – Arte, Cidadania e Transformação Social –, ou organizações não-governamentais internacionais – como a Ação Agrária Alemã, a Concern (Irlanda), a CARE Internacional ou a Cruz Vermelha espanhola; e agências das Nações Unidas como o Programa Alimentar Mundial (PAM), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN – Habitat) ou a Organização Internacional das Migrações (OIM). A colaboração assume formas tão distintas como a cooperação técnica e institucional, o cofinanciamento e a complementaridade de recursos humanos. AMÉRICA CENTRAL: O CASO DE EL SALVADOR Na América Central – onde a Oikos também tem uma presença desde a década de 1990 –, a expo-
sição a eventos climáticos extremos, como os furacões que ocorrem anualmente, ou a catástrofes naturais como terramotos, são uma ameaça constante, agravada pelas condições de pobreza e vulnerabilidade socioambiental dos países da região. Em El Salvador, a Oikos está presente desde 2001, precisamente em resposta à força destruidora de um terramoto, após ter mobilizado uma equipa de recursos humanos a partir das Honduras, onde tinha representação permanente desde
NA AMÉRICA CENTRAL, A EXPOSIÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS OU A CATÁSTROFES NATURAIS SÃO UMA AMEAÇA CONSTANTE, AGRAVADA PELAS CONDIÇÕES DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DOS PAÍSES DA REGIÃO” 1998 e apoio a projetos de parceiros locais desde 1994. Porém, é a partir de novembro de 2005 que a Oikos reforça a atividade em El Salvador, particularmente no departamento de Ahuachapán, onde implementámos um projeto de reabilitação de infraestruturas de água e saneamento e de reforço da saúde pública na prevenção de epidemias, após a ocorrência do furacão Stan, com apoio da DG-ECHO e da solidariedade de cidadãos portugueses, beneficiando cerca de duas mil famílias (10 290 pessoas). Foi precisamente no departamento de Ahuachapán que a Oikos iniciou aquela que é, porventura, a intervenção mais consolidada da organização em matéria de prevenção e preparação de desastres naturais. O primeiro projeto de prevenção e pre29
Untitled-3 29
28/08/15 11:27
| DESENVOLVIMENTO |
CAPACITAÇÃO em prevenção e preparação de desastres, El Salvador ©Tineke D’Haese
paração de desastres nesta região foi iniciado em fevereiro de 2007. Teve como objetivo a criação de um sistema de informação, monitorização e alerta precoce em quatro municípios da microrregião sul do departamento de Ahuachapán, beneficiando 46 mil pessoas. Os quatro municípios abrangidos foram afetados por: terramotos (2001), inundações (1982, 1984, 1985, 1998, 2005) e desabamentos de terra (2005). As projeções em torno das alterações climáticas, devidas ao aumento da temperatura global, indicam uma maior frequência e magnitude dos fenómenos climáticos extremos que atingirão esta região de El Salvador (i.e., furacões e tempestades tropicais). Para atingir os objetivos, o projeto fortaleceu a capacidade institucional dos municípios envolvidos (San Francisco Menendez, Jujutla, Guaymango e San Pedro Puxtla) em termos de gestão do risco e melhorou a preparação face a desastres ao nível das comunidades locais. Além disso, para garantir maior capacidade de recolha, comunica-
ção e processamento da informação em caso de emergência, foi instalado um centro microrregional de informação, monitorização e alerta precoce para zonas de alto risco de inundações e deslizamentos de terra. Tratou-se de um projeto de grande complexidade técnica (com mobilização comunitária, capacitação institucional e criação de protocolos de proteção civil, sistemas de informação, estações de registo de variáveis climáticas, mapas de risco, elaboração de rotas de evacuação, etc.), exigindo uma ampla aliança com organizações públicas e privadas, como a Funsalprodese – Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, o CEPRODE – Centro de Protección para Desastres, o SNET – Servicio Nacional de Estudios Territoriales, a DNPC – Dirección Nacional de Protección Civil, o MARN – Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Associação de Municípios da Microrregião do Sul de Ahuachapán, as autoridades locais de saúde e educação e o corpo de bombeiros.
30
Untitled-3 30
28/08/15 11:28
| DESTAQUE |
Esta mesma metodologia seria replicada no Centro e Norte do departamento de Ahuachapán, permitindo abranger a totalidade dos 12 municípios, com financiamento da DG-ECHO e cofinanciamento da cooperação portuguesa. No final, o departamento ficou dotado com planos de redução do risco de desastres, sistemas de alerta precoce, protocolos de evacuação, sistemas de informação – à escala comunal e municipal – de bacias hidrográficas e provincial, tudo em articulação com o sistema nacional e centro-americano de proteção civil e redução do risco de desastres. Os resultados foram testemunhados por uma equipa de avaliadores externos, que registou, entre outras, as seguintes evidências: • As comunidades e as suas Comissões Comunais de Proteção Civil evidenciam transformações nos seus conhecimentos, atitudes e práticas perante o risco. A capacidade de resposta, os planos, os sistemas de alerta precoce, a gestão de rotas de evacuação e de albergues consideram as necessidades específicas de género e idade e o respeito para com as orientações do Sistema Nacional de Proteção Civil, garantindo um adequado nível de governança. • As Comissões Municipais de Proteção Civil e os seus membros confirmaram ter capacidade de implementar o modelo de gestão de proteção civil graças às ações de organização, capacitação e exercícios de simulação realizados no âmbito do projeto. • A intervenção do corpo de bombeiros surge agora mais integrada e articulada no âmbito das Comissões Municipais de Proteção Civil sobre Prevenção e Controlo de Incêndios. A formação de brigadas comunais de prevenção e controlo de incêndios e a divulgação desta temática permitiu reduzir a incidência de incêndios no ano de 2011, de acordo com os dados disponibilizados pelos registos centrais de El Salvador. • O impacte do projeto evidenciou-se na capacidade de gestão das pessoas envolvidas a nível estratégico e organizativo – tanto a nível comunal como municipal e departamental – durante a emergência provocada pela “Depressão Tropical 12 E”,
que afetou El Salvador em outubro de 2011 e casualmente colocou à prova as Comissões Comunais e Municipais, objeto de intervenção [dos projetos da Oikos]. A avaliação recolheu evidências de que os protocolos comunais e municipais, nas suas componentes de alerta, evacuação e albergues, funcionaram adequadamente, conseguindo garantir a proteção da vida dos habitantes locais.
FUNDADA EM PORTUGAL NO ANO DE 1988, A OIKOS – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO É UMA ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO” • O CEMIMM – Centro Microrregional de Información y Monitoreo Multiamenaza também teve durante a emergência derivada da “Depresssão Tropical 12 E” um excelente nível de resposta e coordenação na geração de informação estratégica para a tomada de decisão a nível departamental e no âmbito do Observatório Ambiental do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. • O CEMIMM e o CEMIMAT – Centro Microrregional de Información, Monitoreo y Alerta Temprana foram conjuntamente fortalecidos com a rede de observadores locais, através de ações de formação e realização de simulacros, permitindo consolidar os conhecimentos, práticas e atitudes de alerta precoce. APOIO À DECISÃO NA SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS A ação da Oikos não se limitou, contudo, à escala local e provincial. Neste momento, para além da replicação da experiência noutros países da região (por exemplo, na Nicarágua), somos parceiros de um projeto da região do golfo de Fonseca, uma ex31
Untitled-3 31
28/08/15 11:28
| DESENVOLVIMENTO |
CENTRO Microrregional de Informação, Monitorização e Alerta Precoce (CEMIMM), El Salvador ©Oikos
tensa área ecológica que abrange províncias de três países da América Central (Honduras, El Salvador e Nicarágua). Liderado pelo Instituto CIDEA (Centro de Investigação de Ecossistemas Aquáticos) da Universidad Centroamericana da Nicarágua (UCA), este projeto visa fortalecer as capacidades locais para a adaptação às alterações climáticas em 19 municípios do golfo de Fonseca, uma região com 528 mil pessoas. Esta região é altamente vulnerável às alterações climáticas, particularmente no que diz respeito às comunidades que vivem da pesca artesanal, da aquicultura (camarão) e da agricultura de subsistência. O projeto pretende apoiar a decisão e processo de priorização de medidas de adaptação às alterações climáticas ao nível dos decisores públicos, das associações e cooperativas do setor produtivo e ainda das empresas privadas presentes na região.
O consórcio de implementação reúne, para além da Universidad Centroamericana e da Oikos, a Adepes – Asociación de Desarrollo Pespirense (Honduras), a NITAPLAN – Instituto de Investigación Aplicada y Promoción del Desarrollo Local (Nicarágua), a Funsalprodese (El Salvador) e duas organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD) europeias congéneres da Oikos – o GVC de Itália e o ICADE, de Espanha) –, orientando as atividades dirigidas a 300 funcionários públicos, 60 representantes de empresas privadas, 150 associações, redes e cooperativas de produção e 1800 pessoas envolvidas diretamente na experimentação de medidas de adaptação às alterações climáticas no âmbito da agricultura, aquicultura e pescas. Fruto desta experiência acumulada em Moçambique e na América Central, a Oikos foi entretanto convidada a prestar assistência técnica na formação
32
Untitled-3 32
28/08/15 11:28
| DESTAQUE |
e construção de instrumentos de apoio à decisão em matéria de priorização de medidas de adaptação às alterações climáticas, orientada para os decisores públicos e organizações da sociedade civil de Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, no âmbito de um projeto financiado pelo Fundo Português de Carbono e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. O projeto é gerido pela empresa portuguesa CAOS – Sustentabilidade e promovido pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde, pelo MICOA – Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental de Moçambique, e pelo Instituto de Meteorologia de São Tomé e Príncipe. Pelo exposto, fica claro o papel que têm hoje organizações não-governamentais de cooperação para o desenvolvimento, como a Oikos, não apenas na assistência a populações carenciadas, mas sobretudo no aumento da resiliência das comunidades pobres e vulneráveis aos choques periódicos exponenciados pela variabilidade climática e pelas alterações antropogénicas ambientais. Fica também evidenciado que, em muitos países (na América Latina poderíamos falar ainda da experiência no Peru ou em Cuba), a Oikos é hoje reconhecida não apenas como uma organização humanitária, mas como legítima representante da sociedade portuguesa, projetando uma imagem positiva e solidária de Portugal e precedendo em duas décadas o recente fluxo de internacionalização da economia portuguesa para a América Latina. Esta capacidade que a Oikos tem demonstrado na projeção da solidariedade portuguesa, seja na África lusófona, seja na América Latina, foi possível graças a uma estratégia de alianças com um vasto leque de instituições públicas, privadas e académicas dos países de destino, de Portugal e de outros países europeus. Determinante foi a transformação do perfil da organização, passando de uma ONGD que implementava diretamente projetos à escala comunitária, para o de uma organização “facilitadora de soluções” que, embora permanecendo próxima das comunidades locais, é capaz de reunir e gerir a complementaridade e contributo de um amplo leque de parceiros à escala local, nacional e internacional.
OIKOS – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Fundada em Portugal no ano de 1988, a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente como organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD/ INGO). Trata-se de uma associação ecuménica, no sentido universal, enquanto se alia ao esforço de quantos, pessoas e instituições, partilham a visão de um mundo sem pobreza e injustiça, onde o desenvolvimento humano seja equitativo e sustentável à escala local e global. Independentemente de quaisquer orientações políticas, financeiras ou religiosas, a Oikos disponibiliza-se para concertar a sua ação com entidades públicas e privadas que coincidam com os seus valores, objetivos e propósito de erradicar a pobreza e desenvolver soluções sustentáveis. Desde 1992, a Oikos é detentora do estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, concedido pelo Estado Português. Em 2000 foi-lhe atribuído o estatuto consultivo junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Desde a sua fundação, a Oikos já implementou projetos em duas dezenas de países pobres de África, América Latina e Ásia. Em Portugal, tem a sua sede no município de Oeiras (Queijas) e uma delegação em Braga, para o Norte do país. Além disso, desde 1999, conta com mais de vinte núcleos de Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global, um pouco por todo o país, na sua maioria constituídos por professores voluntários. A atividade da Oikos encontra-se estruturada num contínuo de evolução, articulando a ação humanitária com a promoção do desenvolvimento sustentável e a educação para a cidadania global.
33
Untitled-3 33
28/08/15 11:28
| SÉCULO XXI |
COLABORAÇÃO A chave para a governação integrada Numa época marcada pela complexidade, os problemas sociais são resistentes a abordagens tradicionais de matriz burocrática. Só soluções de governação integrada, baseadas em relações interorganizacionais de colaboração, podem ambicionar a uma maior eficácia e eficiência na gestão destes problemas. Mas o caminho não é fácil. Texto de Rui Marques [MEMBRO DO FÓRUM PARA A GOVERNAÇÃO INTEGRADA; PRESIDENTE DO INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA]
O
paradigma da complexidade (MORIN, 1990) veio para ficar. A velocidade, a turbulência, os ciclos curtos, a incerteza e a interdependência, entre outros fatores, cresceram exponencialmente, num mundo marcado pela conetividade e suas interações/retroações, pela globalização e pela mobilidade humana. Terminaram os tempos de um amanhã previsível, de causas que geram efeitos constantes e que neles se esgotam, ou de trajetos lineares. Simultaneamente, esvaiu-se a ilusão de tudo poder explicar, bastando que para tal se decompusesse um fenómeno indecifrável no seu todo em pequenas partes ao alcance da nossa compreensão. As múltiplas interações entre inúmeras unidades – interações essas que podem ser simultaneamente previsíveis e imprevisíveis, desejadas e indesejadas, de grande e de pequena magnitude – definem a complexidade nos nossos dias. Também por isso, temos hoje um cenário que alguns definem como a “sociedade do risco”, seja este ecológico, social ou global (GIDDENS, 2001), ou-
tros como a “sociedade da insegurança” – económica, política e física (JUDT, 2010). É seguramente a sociedade do ziguezague, da desatenção e do clique, que nos dá a vida vista (e vivida) em múltiplos ecrãs em simultâneo (smartphone, tablet, computador, televisão, etc.), numa fragmentação de imagens e, tantas vezes, numa desconexão de sentidos. As questões sociais também sofrem o impacte desta revolução em curso. Se é verdade que os problemas sociais nunca foram simples, é igualmente certo que nunca foram tão complexos. E isso coloca um enorme desafio a todas as instituições. OS PROBLEMAS SOCIAIS COMPLEXOS Na análise dos problemas sociais emergiu uma categoria que Rittel e Webber, há cerca de quarenta anos, definiram como wicked problems (RITTEL e WEBBER, 1973). Perversos, malévolos e ingeríveis, estes problemas complexos caraterizam-se por alguns traços comuns. Algumas dessas caraterísticas são: dificuldade em definir o problema,
34
Untitled-5 34
28/08/15 11:32
| DESTAQUE |
QUADRO I. Diferenças entre problema linear e problema complexo CARATERÍSTICA
PROBLEMA LINEAR
PROBLEMA COMPLEXO
A definição clara do problema também desvenda a solução.
Não há acordo sobre qual é o problema.
O resultado é verdadeiro ou falso; bem-sucedido ou malsucedido.
A solução não é verdadeira ou falsa, o máximo a que se consegue chegar é a melhor, pior, suficiente.
O problema não está sempre a mudar.
O problema está sempre a mudar.
PARTES INTERESSADAS E O SEU PAPEL
Especialistas resolvem-no usando a ciência.
Muitas das partes interessadas têm diferentes ideias sobre o real problema e as suas causas.
FINAL (STOPPING RULE)
A tarefa termina quando o problema é resolvido.
O fim é determinado pelas partes interessadas, forças políticas, disponibilidade de recursos ou uma combinação destas.
Especialistas seguem um protocolo que guia as escolhas das soluções.
As soluções dos problemas estão baseadas em julgamentos de múltiplas partes interessadas, não há boas práticas, cada problema é único e as soluções têm de ser customizadas.
O PROBLEMA
NATUREZA DO PROBLEMA
Fonte: Adaptado de Kreuter et al., 2004.
sem solução definitiva nem limitada a um conjunto fechado de soluções, cada problema pode ser entendido como sintoma de outro problema, os especialistas não são suficientes, atravessam áreas disciplinares e fronteiras de organizações, entre outras. Podemos encontrar no quadro I as diferenças essenciais entre problemas lineares e problemas complexos. Entre os problemas classificados como complexos encontram-se a pobreza extrema e as pessoas sem-abrigo, o desemprego de longa duração, as crianças e jovens em risco, a integração de imigrantes, a violência doméstica, as pessoas idosas isoladas, entre muitos outros. Os autores do conceito usaram a pobreza como exemplo para explicar o seu entendimento de wicked problem. “Pobreza significa baixo rendimento? Sim, em parte. Mas quais são os determinantes desse baixo rendimento? É fruto da deficiente economia nacional ou regional ou é resultado das deficiências das competências ocupacionais e cognitivas da força de trabalho? Se for este último a definição do problema a sua solução passa por envolver o sistema educativo. Mas será dentro do
sistema educativo que o problema reside? O que pode então querer dizer ‘melhorar o sistema educativo?’. Ou o problema da pobreza reside numa deficiente saúde física e mental? E se é isso, devemos juntar essas causas ao nosso pacote de informação e procurar dentro dos serviços de saúde uma causa plausível. Devemos incluir a privação cultural? A desorganização espacial? Problemas de identidade? E por aí adiante.” (RITTEL e WEBBER, 1973). Esta categoria de problemas complexos, que evidencia esta transformação de paradigma, do linear para o complexo, coloca um enorme desafio à cultura organizacional em que (ainda) vivemos. Os problemas sociais mais complexos são essencialmente horizontais, transversais, multidisciplinares e multissetoriais (GOLDSMITH, 2010), enquanto as respostas sociais continuam a ser desenvolvidas, muitas vezes, com soluções verticais, em “silos”, com evidentes dificuldades de interligação entre instituições (públicas, privadas, terceiro setor, etc.), entre profissionais de várias áreas do conhecimento e entre diferentes níveis (local, regional, nacional, etc.). Acresce a 35
Untitled-5 35
28/08/15 11:32
| SÉCULO XXI |
ENCONTRO Juntos fazemos melhor I
inexistência de cultura de colaboração e de uma linguagem comum. Este modelo de resposta burocrática, caraterizado pela valorização do aspeto legal das normas e regulamentos, da formalidade das comunicações, da divisão rígida do trabalho, de um modelo hierárquico de autoridade e da hegemonia de rotinas e procedimentos (GIDDENS, 2002) tem hoje evidentes dificuldades, se nos quisermos focar nos resultados obtidos (eficácia). Aliás, tradicionalmente, este modelo burocrático situa a sua grelha de avaliação ao nível dos processos e da organização, sendo mínima a valorização dos resultados, entendidos aqui como resolução dos problemas sociais. Se esta dinâmica burocrática era positiva e adequada à realidade social na transição entre os séculos xix e xx, hoje choca frontalmente com a natureza e as condicionantes do século xxi. O CONCEITO DE GOVERNAÇÃO INTEGRADA Perante este desafio colocado à sociedade e às suas organizações, tem emergido, desde os anos 1990, uma nova tendência, sobretudo nos países anglo-saxónicos, de uma abordagem holística e sistémica, que aqui referiremos como “governação integrada” (MARQUES et al., 2014). Uma das definições utilizadas situa-a como “referente a uma estratégia política que procura coordenar o desenvolvimento e a implementação
de políticas transversalmente a departamentos e agências, especialmente para abordar problemas sociais complexos como exclusão e pobreza, de uma forma integrada […]. É uma estratégia que procura juntar não só os departamentos governamentais, mas também um conjunto de instituições privadas e de voluntariado, trabalhando transversalmente tendo em vista um objetivo comum” (BOGDANOR, 2005). Indo um pouco mais longe no esforço de delimitar o significado de governação integrada (GovInt), propomos como definição “a construção, desenvolvimento e manutenção de relações interorganizacionais de colaboração, para gerir problemas sociais complexos com maior eficácia e eficiência”. Vejamos pois, com maior detalhe, os três pilares desta proposta concetual. 1. Construção, desenvolvimento e manutenção de relações interorganizacionais de colaboração A governação integrada é um processo relacional e, por isso, sempre dinâmico. Partindo do pressuposto de que as relações são mais importantes do que os recursos – conceito fundamental para perceber a GovInt –, defende-se que este modelo de relacionamento entre instituições se baseie na colaboração e que possa acontecer sustentadamente, quer no tempo quer nos recursos alocados. Por isso se coloca a ênfase (com três palavras numa curta definição) no processo, que não se esgota na construção inicial, que prossegue com o desenvolvimento dessa relação para níveis mais elevados de integração e de obtenção de resultados, e que não pode ignorar o investimento na manutenção destas relações interorganizacionais de colaboração, tarefa não menos desafiante que a construção e o desenvolvimento, e tantas vezes desvalorizada. 2. Para gerir problemas sociais complexos A governação integrada está particularmente vocacionada para os problemas complexos.
1. São usadas várias expressões em língua inglesa: joined-up government, horizontal government, whole-of-government approach, holistic governance, que, com algumas nuances, são próximas do conceito de governação integrada.
36
Untitled-5 36
28/08/15 11:32
| DESTAQUE |
É nesse campo que afirma a sua vantagem competitiva como modelo organizacional. Não se adequa a tudo e não é uma “varinha mágica”. Há ainda muitos problemas lineares, para os quais modelos burocráticos modernizados ou modelos de nova gestão pública sensatos podem ser os
uma das autoras mais respeitadas nesta temática, Barbara Gray, que o define como o processo pelo qual as partes interessadas – que até podem ver os problemas de pers-
ENTRE OS PROBLEMAS CLASSIFICADOS COMO COMPLEXOS ENCONTRAM-SE A POBREZA EXTREMA E AS PESSOAS SEM-ABRIGO, O DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO, A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AS PESSOAS IDOSAS ISOLADAS, ENTRE MUITOS OUTROS mais adequados. Acresce que a esta nota de humildade do conceito se soma outra, expressa na palavra gerir. Gostaríamos de ter escrito resolver, mas manda o bom senso e o rigor que se reconheça que muitos dos problemas sociais complexos com que lidamos estão fora do alcance da solução definitiva. Será sempre possível fazer melhor, mas o problema, no seu todo, provavelmente nunca estará resolvido. 3. Com maior eficácia e eficiência Este é um pilar fundamental. A razão de ser para a adoção deste modelo de governação integrada é a convicção – e as provas – de que é o mais adequado para conseguir gerir melhor estes problemas, obtendo mais e melhores resultados na prevenção e reparação das suas consequências (maior eficácia). De igual forma, a governação integrada tem de conseguir evidenciar que é mais eficiente na boa utilização dos recursos disponíveis, com a otimização e a redução do desperdício, melhorando o retorno de impacte social do investimento feito. A COLABORAÇÃO NO CENTRO DA GOVINT Quando se chega ao núcleo central deste modelo organizacional, encontra-se como elemento-chave a colaboração. Por isso, sem colaboração não há governação integrada. Entende-se aqui o conceito de colaboração a partir da proposta de
petivas diferentes – partem das suas diferenças e procuram soluções construtivas e mutuamente benéficas que, de outra forma, não poderiam ser encontradas. Daqui podem resultar melhores impactes, a partir de uma análise mais abrangente dos temas e das oportunidades. A autora sublinha ainda a sua dimensão de interdependência e de processo de decisão participado (GRAY, 1989). Note-se que, apesar de ser relativamente banal a defesa da colaboração – muitas vezes acreditanQUADRO II. Fatores colaborativos críticos Os sete fatores colaborativos críticos 1. Os parceiros partilharem um interesse específico ou objetivo comum no qual estão comprometidos e que não conseguem alcançar por si só. 2. Os parceiros quererem procurar uma solução colaborativa agora e estarem dispostos a contribuir com algo para esse esforço. 3. Estarem à mesa as pessoas apropriadas. 4. Os parceiros terem processos/métodos abertos e credíveis. 5. O esforço colaborativo ter um champion (ou champions) apaixonado, credível e influente. 6. Os parceiros terem relações de confiança. 7. Os parceiros usarem as suas competências em liderança colaborativa. Fonte: Adaptado de R.M. Linden, 2010.
37
Untitled-5 37
28/08/15 11:32
| SÉCULO XXI |
Se é verdade que a governação integrada é um processo colaborativo entre instituições, sabemos que são as pessoas que fazem a diferença. Não raras vezes identificamos o peso específico que tem a presença desta(s) ou daquela(s) pessoa(s) para o sucesso de uma plataforma colaborativa. Mas tão importante quanto isso é podermos ter, em processos de GovInt, equipas compostas por diferentes perfis, que cumprem missões complementares. Em algumas circunstâncias (raras), várias dessas competências residem no mesmo elemento, mas geralmente é necessário reunir na equipa quem cumpra os papéis e detenha as competências indicadas no quadro III.
ENCONTRO Juntos fazemos melhor I
do que é um caminho fácil, para o qual chega a boa vontade –, na verdade um processo colaborativo é difícil, moroso, sensível e sujeito a uma progressão com avanços e recuos. Exige convicção, resiliência e paciência. Como não é instantâneo, nem automático, para poder desenhar um processo colaborativo de governação integrada há que atender aos fatores críticos de sucesso (ver quadro II), pois a ausência de um ou mais destes fatores pode inviabilizar esse esforço ou torná-lo excecionalmente exigente. Quadro III. Papéis e competências
PAPEL
IMAGENS DOMINANTES
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
Reticulist (dinamizar as redes de comunicação e influência)
Intermediário de informação, editor (gatekeeper).
Networking, sensibilidade política, diplomacia, negociar, persuadir.
Intérprete/ Comunicador
Culturebreaker, framearticulator.
Relacionamento interpessoal, escutar, empatia, comunicar, dar sentido, gerar confiança, gestão de conflitos.
Coordenador
Pessoa de ligação, organizador.
Planear, coordenar, servir, administrar, gerir informação, monitorizar, comunicar.
Empreendedor
Iniciador, catalisador.
Intermediário, inovar, pensar no todo, flexibilidade, pensamento lateral, sentido de oportunidade.
O FÓRUM PARA A GOVERNAÇÃO INTEGRADA Procurando corresponder ao desafio dos problemas sociais complexos e dos modelos de governação integrada, foi constituído, em 2014, o Fórum para a Governação Integrada (GovInt), que conta com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como uma das instituições fundadoras, a par da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Montepio, das Câmaras Municipais de Lisboa e de Braga e do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), e que conta com o apoio institucional do ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional. Esta plataforma, ela mesma exemplo de uma dinâmica colaborativa, tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que podem contribuir para mobilizar as instituições portuguesas, a vários níveis, para a governação integrada. A sua ação tem incluído conferências, estudos, projetos-piloto, formação avançada e, acima de tudo, uma rede de atores institucionais mobilizados para que possam ser dados passos – ainda que em ritmo lento – para a mudança de cultura organizacional necessária.
Fonte: Adaptado de P. Williams, 2012.
38
Untitled-5 38
28/08/15 11:32
| DESTAQUE |
UM LONGO CAMINHO PELA FRENTE Defendemos que a governação integrada corresponde a um modelo organizacional capaz de lidar melhor com os problemas complexos. Mas não é fácil, nem rápido, nem mágico. Ter consciência de que melhores resultados exigem não escolher o caminho mais fácil (o modelo burocrático é incomparavelmente mais simples) é
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa A EXPERIÊNCIA DE GOVERNAÇÃO INTEGRADA DE BASE TERRITORIAL Um dos projetos-piloto mais relevantes que foi desenvolvido no âmbito do Fórum GovInt, em 2014, aconteceu na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), nomeadamente na sua Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade. Com a recente reorganização em dez Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP), tem vindo a ser promovido um modelo de governação integrada de base territorial. Procurando desenvolver uma intervenção mais próxima dos parceiros da sociedade civil, do Estado central e local, e das pessoas, o projeto-piloto envolveu o reforço de competências para a governação integrada das direções das UDIP, ao nível do conhecimento aprofundado dos problemas sociais complexos e dos fatores críticos para a GovInt. Foi também possível a construção de um mapa interativo das instituições da cidade de Lisboa e a análise das relações interorganizacionais. Através desta dinâmica conseguiu-se mobilizar as equipas internas e os parceiros externos para uma aposta sustentável num modelo de relacionamento colaborativo para atingir melhores resultados, otimizando a utilização de recursos. Com este projeto, a SCML deu um passo simbólico e efetivo, liderando o desenvolvimento de modelos de governação integrada.
a primeira condição, a par com o reconhecimento da incapacidade efetiva de outros modelos lidarem bem com esta tipologia de problemas. Depois, exige-se ter a coragem de investir no desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais para processos colaborativos, de uma forma sustentada no tempo, para que seja uma aposta sólida, que não se baseia simplesmente em impulsos inconsequentes. Finalmente, importa ter a determinação de quem faz maratonas. É necessário fazer um percurso longo até chegar à meta.
BIBLIOGRAFIA BOGDANOR, V. (ed.) – Joined-up Government. Oxford University Press, 2005. GIDDENS, A. – O mundo na era da globalização. 3.ª edição. Lisboa: Editorial Presença, 2001. GIDDENS, A. – Sociologia. 3.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. GOLDSMITH, S. – The power of social innovation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2010. GRAY, B. – Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1989. JUDT, T. – Um tratado sobre os nossos descontentamentos. Lisboa: Edições 70, 2010. KREUTER, M.W.; ROSA, C.; HOWZE, E.; BALDWIN, G. – Understanding wicked problems: A key to advancing environmental health promotion. Health Edication & Behavior. 31 (4), 2004, pp. 441-454. LINDEN, R.M. – Leading across boundaries. Creating collaborative agencies in a network world. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2010. MARQUES, R. et al. – Problemas complexos e governação integrada. Fórum para a Governação Integrada, 2014. MORIN, E. – Introdução ao pensamento complexo. Instituto Piaget, 1990. RITTEL, H.; WEBBER, M. – Dillemmas in a general theory of Planning. Policy Sciences. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company. N.º 4 (1973), pp. 155-169. WILLIAMS, P. – Collaboration in Public Policy and Practice. Perspectives on boundary spanners. University of Bristol: The Policy Press, 2012.
39
Untitled-5 39
28/08/15 11:32
| ENTREVISTA |
Nancy Roberts ENCONTRANDO O ESPAÇO DO PROBLEMA
“Os decisores políticos estão muito afastados das pessoas.” As palavras são de Nancy Roberts, professora de gestão estratégica na Naval Postgraduate School, em Monterey, Califórnia (EUA). Em entrevista à Cidade Solidária, Roberts explica porque se opõe à centralização das decisões, tendência que afasta do processo de resolução de problemas quem melhor os conhece: as “pessoas que trabalhem com esses problemas no terreno”. [ENTREVISTA A NANCY ROBERTS POR JOÃO SANTANA DA SILVA, CENTRO EDITORIAL_SCML]
P
ara Nancy Roberts, professora de gestão estratégica na norte-americana Naval Postgraduate School, as pessoas precisam de estar cada vez mais conscientes da existência de múltiplas naturezas de problemas, com diferentes graus de complexidade. Esse é, para si, o primeiro passo para escolher uma estratégia de abordagem. Depois, é necessário identificar o espaço do problema, envolver as pessoas no processo de decisão e tentar, através do diálogo, chegar a um compromisso sobre o plano de trabalho. A professora norte-americana veio a Portugal falar do tipo de problemas mais complicados, os wicked problems1, na conferência “Problemas sociais complexos: desafios e respostas”, que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian nos dias 11 e 12 de julho de 2014.
1. Não há tradução fidedigna deste conceito em português, cuja tradução literal seria “problema perverso”. Uma tradução adequada seria “problema complicado”, embora se confunda com o conceito de “problema complexo” e não revele o verdadeiro grau de enredamento desse tipo de situação.
40
040-045.indd 40
28/08/15 11:36
| DESTAQUE |
O conceito de wicked problem surgiu-lhe nos anos noventa, quando integrava um grupo de trabalho das Nações Unidas para as negociações com o novo regime talibã no Afeganistão, após a conquista do poder por esta fação em 1996. Considerando que aquela situação política era, na verdade, um problema enraizado noutros problemas e que merecia uma análise que saísse das abordagens ortodoxas às transições de regime, procurou estudos que auxiliassem a sua caraterização. Deparou com um editorial de C. West Churchman, de 1967, que introduzia aquele conceito, e com um artigo de Horst Rittel e Melvin Webber, que lhe deu novas ferramentas concetuais. A Cidade Solidária falou com Nancy Roberts sobre problemas complexos e a forma de lidar com eles na sociedade atual. O que é um wicked problem? A resposta breve é: sabemos que estamos em território de um wicked problem quando não se consegue um acordo quanto à identificação do problema ou a soluções que possam ser viáveis. Quando não há acordo nem consenso. E o conflito é o indício de que se está a entrar no território de um wicked problem. Isto tornou-se evidente para mim quando estava a trabalhar num projeto da Organização das Nações Unidas (ONU) no Afeganistão. Tínhamos todo o tipo de especialistas na sala, pessoas com visões muito diferentes sobre o que devia ser feito para reconstruir o país. Não consegui que chegassem a qualquer acordo, à exceção de terem identificado, no final, algumas questões-chave que achavam que deviam ser tratadas. Não definiram os problemas nem as soluções. Se os tivesse empurrado na direção de uma definição dos problemas e de um acordo sobre as soluções, nunca teria sequer conseguido manter qualquer tipo de diálogo. Portanto, a situação estava muito compartimentalizada. Entraram na conversa com os seus próprios problemas e as suas próprias soluções. Absolutamente. E tinham perspetivas muito diferentes. Quando se trabalha com pessoas com
Novas estratégias para novos problemas CONFERÊNCIA “PROBLEMAS SOCIAIS COMPLEXOS: DESAFIOS E RESPOSTAS” As caraterísticas dos problemas do século XXI tornam-nos cada vez mais enraizados na sociedade, sofrendo a influência de vários fatores e afetando várias áreas simultaneamente, o que dificulta a capacidade de resposta segundo estratégias habituais. A necessidade de uma reflexão em redor das possíveis abordagens a estes “problemas sociais complexos”, que exigem uma coordenação cada vez maior, levou o Fórum de Governação Integrada (GovInt) a promover um encontro sobre o tema na Fundação Calouste Gulbenkian. O GovInt é uma rede colaborativa de instituições públicas e privadas que inclui a própria Gulbenkian, a Fundação Montepio, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Braga, o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE) e o Instituto Padre António Vieira. O tema deste encontro partiu, precisamente, da reflexão que estas instituições desenvolvem em redor do paradigma da cooperação institucional e do modelo de governação integrada. A conferência arrancou com o debate acerca da identificação deste tipo de problemas e dos principais obstáculos à sua resolução. Os keynote speakers Nancy Roberts e Philippe Vandenbroeck exploraram o conceito central de wicked problem que deu o mote à conferência. Avançaram algumas pistas básicas para a criação de respostas, nomeadamente a necessidade de que estas sejam pensadas “da base para o topo”, de forma descentralizada e mais apoiada na iniciativa da sociedade civil e na cooperação com vários agentes, ao invés de encerrada nas instituições ou no Estado. O peso do Estado na criação de soluções foi um dos eixos da discussão da conferência,
41
040-045.indd 41
28/08/15 11:36
| ENTREVISTA |
tendo-se apelado a um crescente envolvimento da sociedade civil nas questões comuns a todos. Nesse sentido, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, defende que a responsabilidade de delinear políticas de interesse público não pode continuar a caber somente ao Estado. Opinião diferente demonstrou o conferencista Pedro Marques, ex-secretário de Estado da Segurança Social, que entende que o Estado tem uma posição relevante na coordenação de estratégias de governação integrada. Sem essa coordenação, “corre-se o risco de desagregação da resposta”, alertou. A resposta passa, segundo a maioria dos conferencistas, por descentralizar a decisão e colaborar com outras entidades que trabalhem na mesma área. Maria Manuel Leitão Marques, ex-secretária de Estado da Modernização Administrativa, defendeu mesmo que a chave para o sucesso dos projetos começa no seio de cada organismo, ainda na fase do planeamento, “que deve ser feito com toda a equipa dentro da sala, e não só os diretores-gerais, porque são os funcionários que ajudam na implementação ao pormenor”. Essa partilha de responsabilidade e de decisão é tida como essencial para Oliver Hilbery, um dos oradores convidados, que assinalou haver, atualmente, tendência para individualizar quando as coisas correm mal. “Culpamos apenas o líder e prosseguimos, deixando que o sistema permaneça danificado.”
esse nível de diversidade de opiniões, de perspetivas e de formas de ver o mundo, é preciso ter muito cuidado com as interações que se planeia. Porque se corre o risco de afastar ainda mais as pessoas. Assim, tenta-se manter as interações o mais abertas possível para explorar outras alternativas, opções e perspetivas.
Este tipo de problemas é recente ou sempre existiu? Acho que sempre andou por aí. Mas a expressão – wicked problems – foi literalmente inventada em 1967, por [C. West] Churchman, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. [Horst] Rittel e [Melvin M.] Webber estavam a trabalhar com Churchman. Foi com este grupo que o conceito surgiu pela primeira vez, pelo menos publicado. Podemos afirmar que, ao longo do milénio, tivemos wicked problems consecutivamente. Mas só recentemente, a partir de 1967, é que as pessoas começaram a perceber que há graus de dificuldade variáveis nos problemas. Foi aí que começaram a diferenciar entre simples, complexo, wicked ou super wicked. Quando estavam a identificar estes problemas, existiam caraterísticas que eram únicas. Como é que os wicked problems se distinguem dos problemas complexos? Um problema complexo pode agravar-se e tornar-se num wicked problem? Sim, claro. Pensávamos que era bastante simples lidar com a pobreza. No entanto, muitos anos depois, ainda estamos a lidar com ela e a situação está a ficar cada vez pior. O mesmo se passa com o terrorismo. Estamos a utilizar estratégias muito diferentes mas o terrorismo está a aumentar. Portanto, seja o que for que estejamos a fazer, estamos apenas a intensificar o problema e não a resolvê-lo. O que tento fazer é ajudar as pessoas a distinguir entre complexidade e wickedness. Por exemplo, ir à Lua não foi um wicked problem, foi um problema complexo. Havia questões tecnológicas que tinham de ser resolvidas e teve de se obter consenso político, o que é sempre desafiante. Mas ninguém negou que era uma boa ideia. Era apenas complexo, porque dissemos: “Sim, é isso que nós queremos fazer mas não sabemos como fazê-lo.” A complexidade e o desacordo surgiram porque havia várias soluções diferentes em cima da mesa. É desta forma que distingo entre problemas complexos e wicked problems: o grau de concordância algures no espaço de resolução de problemas, quer seja em redor do problema em si ou da sua solução. É essa concordância que nos oferece a complexidade.
42
040-045.indd 42
28/08/15 11:36
| DESTAQUE |
Qual é o primeiro passo para lidar com esses desafios? Há algum primeiro passo comum para abordar os wicked problems? Para mim, é tentar perceber qual é o espaço de resolução do problema. Porque não podemos ter todos os problemas do mundo amontoados. Sem compreender bem aquilo com que nos deparamos, não é possível convidar pessoas a juntarem-se ao processo de resolução desse mesmo problema.
PENSÁVAMOS QUE ERA BASTANTE SIMPLES LIDAR COM A POBREZA. NO ENTANTO, MUITOS ANOS DEPOIS, AINDA ESTAMOS A LIDAR COM ELA E A SITUAÇÃO ESTÁ A FICAR CADA VEZ PIOR” Mas é um processo difícil. As fronteiras do problema não são muito claras. Sim, as fronteiras são muito fluidas. Não se pode demarcar o espaço do problema. Um problema está ligado a um problema que está ligado a outro problema. Traçar os limites é o primeiro desafio. Arrisca-se uma hipótese de limites e, frequentemente, arrisca-se mal. Quem deverá estar presente quando se está a tentar reconstruir um país? Milhões de pessoas poderiam estar envolvidas. Portanto, somos obrigados a arriscar na escolha de quem deve estar representado, com que especialização e ponto de vista, entre outras coisas. Ao fazer essas escolhas, devemos estar conscientes de que estamos a demarcar o processo de resolução do problema. Voltemos ao exemplo com o qual comecei, ou seja, ter os talibãs presentes no processo. Isso fez todo o sentido. Porque todos esperavam que eles vencessem a guerra. Era o país deles que teria de vir a ser reconstruído. Tinham de lá estar.
Poderia estar a criar um problema ainda maior se os excluísse da discussão. É claro. Quem está presente conta. E quem toma a decisão de deixar entrar alguém no processo e excluir outros está a fazer uma escolha estratégica crítica, ao delimitar o espaço do problema. Isso quer dizer que, por vezes, não há boas respostas possíveis? Exatamente. Há respostas melhores e piores, mas não há uma resposta certa. Não há apenas uma verdade. E isso deixa muita gente desconfortável. Podem as soluções agravar os problemas existentes ou mesmo criar novos problemas? Podem e fazem-no. Temos o caso da Revolução Verde na agricultura, que nos levou a pensar que, com as novas sementes, resolveríamos o problema da fome e passaríamos a produzir mais. Mas olhamos para o que se está a passar na Índia, por exemplo, e apercebemo-nos de que muitas das novas sementes precisam de mais água. Isto é um problema grave, que está a levar a um consumo de água tão elevado que temos agora situações de seca em várias zonas do país. O que tínhamos em mente era uma solução a curto prazo, que nos daria novas colheitas para alimentar um grande número de pessoas. Mas a Revolução Verde bateu num considerável obstáculo em algumas zonas do globo, precisamente por causa da água que é necessária para a sustentar. 43
040-045.indd 43
28/08/15 11:36
| ENTREVISTA |
É um pouco como aquela famosa frase de Samuel Beckett: “Tentar novamente, falhar novamente, falhar melhor”? Bem, será mais “falhar cedo e falhar frequentemente para se ser bem-sucedido a longo prazo”. É isso que se procura.
Na conferência, Phillipe Vandenbroeck referiu a questão das oportunidades. Os wicked problems têm sempre efeitos negativos ou são necessários enquanto desafios à evolução natural das respostas e políticas públicas? Acho que o Phillipe [Vandenbroeck] oferece uma boa perspetiva ao enquadrar a questão enquanto forma de procurar oportunidades. Detesto estar constantemente a pensar em problemas. E quando se trabalha na área do design está-se à procura de oportunidades. Por isso, a minha abordagem à resolução de problemas é a de levar as pessoas a pensar em ideias, soluções ou oportunidades novas e criativas. É um processo guiado pela oportunidade. Mas primeiro é necessário que as pessoas se apercebam de que estão no espaço de um wicked problem. Descobri que o fracasso é um grande motivador. Nada funciona tão bem como o fracasso para prender a atenção das pessoas. Para se aperceberem de que estão num impasse, no espaço de um problema do qual não conseguem sair. Quando isto acontece, as pessoas tomam consciência de que as suas antigas estratégias e técnicas de resolução de problemas já não funcionam, e só então estão preparadas para considerar outras opções. O fracasso é um grande professor. E reconhecer a existência de wicked problems ajudar-nos-á a preparar o próximo passo.
HÁ RESPOSTAS MELHORES E PIORES, MAS NÃO HÁ UMA RESPOSTA CERTA. NÃO HÁ APENAS UMA VERDADE. E ISSO DEIXA MUITA GENTE DESCONFORTÁVEL” Tem referido a necessidade do abandono do modelo de resolução de problemas do topo para a base. Não o estou a abandonar. Simplesmente não vejo esse modelo como ponto de partida. Isto porque os decisores políticos estão muito afastados das pessoas – dos empreendedores e dos inovadores – que efetivamente experimentam e tentam descobrir o que funciona ou não na sua situação e no seu contexto. No espaço de resolução de problemas, precisamos de pessoas que se envolvam diretamente, que trabalhem com esses problemas no terreno. Os decisores políticos podem vir numa fase posterior, quando tiverem a noção do que resulta e do que não resulta. Esta reformulação da abordagem poderá influenciar a forma de gerir empresas ou mesmo de governar países? Nesta matéria, acho que as instituições sem fins lucrativos são muito mais bem organizadas. Confiam mais. Embora até nestas organizações tenha havido um impulso para centralizar, para empurrar as decisões para o topo. E, quando chegamos ao topo destas empresas – ou das estruturas gover-
44
040-045.indd 44
28/08/15 11:36
| DESTAQUE |
namentais –, deparamos com pessoas que estão muito afastadas do espaço de resolução dos problemas. Circulam num ambiente de ar rarefeito e falam apenas umas com as outras. Não falam com as pessoas que estão a viver lado a lado com os problemas. Essa distância atrapalha o processo de resolução do problema. Por essa razão, gostaria de ver muito mais experimentação e inovação da base para o topo. Os decisores políticos poderiam então ver o que funciona e criar políticas que nos permitam aceder ao melhor de todos estes mundos. Mas eles não sabem o suficiente, muitas das vezes, para fazer uma boa política. Preocupo-me muito com algumas das políticas que estão a criar do topo para a base. São completos desastres.
QUANDO CHEGAMOS AO TOPO DAS ORGANIZAÇÕES, OU AO TOPO DAS ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS, DEPARAMOS COM PESSOAS QUE ESTÃO MUITO AFASTADAS DO ESPAÇO DE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. CIRCULAM NUM AMBIENTE DE AR RAREFEITO E FALAM APENAS UMAS COM AS OUTRAS” Consigo vê-lo no meu próprio governo. Um dos exemplos é o problema do terrorismo. Criámos mais terroristas do que aqueles de que nos livrámos, simplesmente por causa da estratégia que escolhemos: uma estratégia do topo para a base. Ao atacar os terroristas, criámos novos em vez de reduzir o seu número.
Nas recentes eleições europeias registou-se uma ascensão de partidos radicais e mais extremistas – sobretudo de extrema-direita. Isto está a mudar a forma de os governos abordarem certos problemas sociais. A Europa está a afastar-se do caminho do trabalho em cooperação? Arrisca-se a perder a capacidade de dialogar para resolver um problema? É um risco. Para começar qualquer diálogo ou colaboração, é preciso existir vontade de confiar no outro. E quando temos grupos extremistas – grupos de extrema-direita ou de extrema-esquerda – que estão absolutamente convencidos de que identificaram o problema e as soluções, pessoas que não dialogam ou colaboram com os outros porque já têm a resposta, esse é um perigo real. É sobretudo com essas pessoas que me preocupo, porque estão a corromper o processo. Atualmente, os governos e as instituições sem fins lucrativos têm as ferramentas necessárias para trabalhar com wicked problems através de uma nova perspetiva? Ainda não. Por isso, a parte educativa é muito importante. A formação, os workshops, os próprios programas nas universidades e faculdades. A Stanford Design School, por exemplo, redesenhou o programa de estudos do K-12 [designação norte-americana para o conjunto dos ensinos primário e secundário]. É uma forma diferente de se estar no mundo e de se ser um solucionador de problemas. E as pessoas precisam de aprender esse processo. Que pode ser ensinado. Mas necessitam, na mesma, de experiência e de exposição. Não é automático. As pessoas têm de ser verdadeiramente apoiadas nesse processo. É um processo geracional. É. E demorará algum tempo.
45
040-045.indd 45
28/08/15 11:36
| MUDANÇA |
Uma tipologia das
ESTRATÉGIAS DE TRANSIÇÃO
Nos dias de hoje, enfrentamos desafios urgentes, que exigem uma intervenção a curto prazo, mas que podem ser também um impulso para uma transição da sociedade rumo à sustentabilidade. Para melhor compreender como as sociedades podem ser levadas à mudança, construímos uma tipologia das principais estratégias de transição. Texto de Philippe Vandenbroeck [PENSADOR DE SISTEMAS E PLANIFICADOR DE CENÁRIOS_SHIFTN] TRADUZIDO POR DAVID MIRA
DESAFIOS IMPORTANTES stamos numa época de desafios e oportunidades tremendas. Os problemas são fáceis de identificar. Somos bombardeados pelos meios de comunicação com notícias sobre pânicos virais, conflitos armados, o fraco crescimento económico, as mudanças climáticas e os excessos do fundamentalismo religioso. Há também notícias menos conspícuas acerca das pressões sobre os recursos naturais, o crescimento na desigualdade social, o desemprego em massa e os distúrbios mentais cada vez mais predominantes. Estes problemas são bem reais e não há como negar que imensas pessoas, por todo o planeta, são afetadas por eles. Além disso, se olharmos com mais cuidado para estas forças e atritos, descobrimos que todos são interdependentes de
E
alguma forma. Por exemplo, é impossível determinar onde acaba ao certo o desafio das mudanças climáticas. Afeta a saúde e as hipóteses de subsistência de milhões de pessoas de inúmeras formas e, a partir daí, desdobra-se numa corrente infinita de efeitos consequentes interligados. O mesmo argumento pode ser aplicado a muitas das outras tendências globais. Não é, então, simples ligar este contexto de urgência – repleto de ameaças e incertezas – a oportunidades? UM ESTÍMULO À TRANSIÇÃO Mas consideremos a seguinte hipótese: a nossa espécie encontra-se numa encruzilhada, com um sistema sociocultural em degradação e outro a tentar emergir. Se isto for verdade, as tensões que vivemos atualmente podem ser consideradas dores de parto. Em vez de resistir e defender o statu quo, devería-
46
046-051.indd 46
28/08/15 11:37
| DESTAQUE |
UMA TIPOLOGIA DAS ESTRATÉGIAS DE TRANSIÇÃO Um dos elementos importantes nos quais a nossa tipologia se pode basear é o enquadramento predominante de sustentabilidade. Uma das perceções do mundo entende que o fundamento da sustentabilidade é um recalibramento do crescimento económico. O crescimento continua a ser o principal ímpeto para o desenvolvimento humano e os recursos ambientais são vistos como um fator de produção, da mesma forma que a mão-de-obra e o capital. Esta é, essencialmente, uma perceção do statu quo que entende que o desenvolvimento sustentável pode ser atingido com as estruturas atuais da sociedade. Chamemos-lhe modernização ecológica e comparemo-la a uma outra perceção, que entende que uma sociedade mais sustentável só será possível como resultado de uma transformação abrangente, que inclui o código moral das pessoas, a forma como avaliam e criam valores e como se regem a si próprias. Outro dos elementos nos quais a nossa tipologia se baseia diz respeito ao governo da transição rumo à sustentabilidade. Basicamente, podemos contrastar uma abordagem “de cima para baixo” com outra “de baixo para cima”. Na primeira os governos encontram-se no posto de liderança, enquanto na segunda são os indivíduos e as comunidades locais que colocam a tarefa de transição sobre os seus ombros.
FIGURA 1. Tipologia de estratégias de transição De cima para baixo Sistemas de inovação guiados pela ciência Ex.: Horizonte 2020 da UE
Iniciativas de reforma
Filantropia empreendedora
Ex.: Cidades em Transição
Ex.: XPrize
Modernização ecológica
Governo de transição Transformação da sociedade
mos descobrir como canalizar estas forças rumo a um futuro mais equitativo e sustentável. Isto representa um desafio prático, intelectual e moral. Porém, é uma perspetiva visionária e positiva. Como podemos atingir este tipo de transição? Tentemos desvendar esta noção de transição, construindo uma tipologia simples das estratégias de transição. O objetivo de todas estas estratégias é o de orientar sociedades – sistemas sociotécnicos complexos – rumo a outro equilíbrio mais sustentável.
De baixo para cima
Juntando estas duas dimensões – enquadramento do desenvolvimento sustentável e governo de transição, respetivamente – obtemos uma matriz com quatro (conjuntos de) estratégias de transição. Admitindo que esta é uma representação pouco elaborada do panorama da transição, investiguemos cada um destes quadrantes separadamente. O quadrante superior direito representa uma estratégia de transição regida de cima para baixo e orientada para a modernização ecológica. Esta é a ortodoxia materializada nos sistemas de inovação tradicionais, regionais e (trans)nacionais financiados pelos governos. Os mercados e as tecnologias são instrumentos-chave para garantir a competitividade. Tomemos como exemplo deste tipo de iniciativa, guiada pela ciência e pelo mercado, o programa de investigação e inovação da União Europeia, de 80 mil milhões de euros, o Horizonte 20201. Este foca-se significativamente na criação de infraestruturas mais eficientes e ecológicas (energia, transportes, agricultura, saúde, gestão de materiais).
1. Mais informação em: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.
47
046-051.indd 47
28/08/15 11:37
| MUDANÇA |
No quadrante inferior esquerdo encontramos um conjunto variado de iniciativas de reforma que procuram contribuir para uma transição rumo a um futuro sustentável. Podem ser autofinanciadas ou apoiadas pelos governos ou por intervenientes da sociedade civil. Como exemplo, podemos apontar o movimento das Cidades em Transição2,
que surgiu em resposta aos desafios indissociáveis do pico do petróleo e das mudanças climáticas. As Cidades em Transição são comunidades locais que procuram formas de adotar um estilo de vida menos materialista, de modo a fortalecer a coesão social e melhorar a capacidade das pessoas para resolver problemas. Vários municípios
EXISTE UMA PERCEÇÃO QUE ENTENDE QUE UMA SOCIEDADE MAIS SUSTENTÁVEL SÓ SERÁ POSSÍVEL COMO RESULTADO DE UMA TRANSFORMAÇÃO ABRANGENTE, QUE INCLUI O CÓDIGO MORAL DAS PESSOAS, A FORMA COMO AVALIAM E CRIAM VALORES E COMO SE REGEM A SI PRÓPRIAS portugueses são membros ativos da Rede de Cidades em Transição3. Obviamente, este quadrante engloba um vasto leque de iniciativas de baixo para cima, incluindo atividades empreendedoras no campo da inovação social. As estratégias de transição englobadas nestes dois quadrantes existem há muito tempo. Ambas têm pontos fortes e pontos fracos. A abordagem de cima para baixo, guiada pela ciência, provou a sua força nos tempos de guerra, quando existiu uma vontade política de mobilizar imensos recursos para derrotar um inimigo. Sem estes desafios urgentes, os sistemas de inovação são lentos, isolados e assumem poucos riscos. Ao contrário do que sucede nas estratégias de baixo para cima, estas não dão o poder aos cidadãos. As iniciativas de reforma têm as vantagens da agilidade, pragmatismo e ligação a uma necessidade local concreta. Um obstáculo importante que as iniciativas lideradas por cidadãos enfrentam é o alargamento da escala para um maior impacte.
2. Mais informação em: http://www.transitionnetwork.org/. 3. Mais informação em: http://www.transitionnetwork.org/initiatives/transi-o-em-portugal.
48
046-051.indd 48
28/08/15 11:37
| DESTAQUE |
Passemos aos outros dois quadrantes. A célula inferior direita na nossa matriz representa uma estratégia de transição de baixo para cima e focada na modernização ecológica. Um dos arquétipos desta abordagem seria a XPrize4 (Revolução através da Competição). Os patrocinadores ricos ou as grandes empresas proporcionam um desafio concreto, orientado para as tecnologias, e oferecem um capital inicial significativo à equipa que desenvolver a proposta vencedora. É um exemplo daquilo a que se chama filantropia empreendedora. É uma abordagem com grande adesão nos Estados Unidos da América, mas menos desenvolvida na Europa. Não é, de modo algum, uma novidade. O desenvolvimento de um método prático para determinar a capacidade de longitude de uma embarcação foi incentivado através de grandes recompensas financiadas pelos governos desde o século xvi. Isto conduziu a um dos empreendimentos científicos mais abrangentes de sempre.
um conceito mais amplo e holístico de transição rumo à sustentabilidade. Proponho a gestão de transição como um exemplo típico deste tipo de estratégia. É uma abordagem importante e relativamente nova e iremos discuti-la aqui mais detalhadamente. GOVERNO DE TRANSIÇÃO Em primeiro lugar, devemos fazer a distinção entre ciência de transição, governo de transição e gestão de transição. A ciência de transição é um campo relativamente recente de investigação académica. Resulta da interseção de várias disciplinas: os sistemas complexos, a ciência da gestão, a ecologia de sistemas e as ciências sociais e políticas. A ciência de transição é, assim, nitidamente interdisciplinar. O seu objetivo é compreender as dinâmicas de sistemas sociotécnicos complexos (mobilidade, energia, setor agroalimentar, saúde) em resposta às forças ambientais.
AS CIDADES EM TRANSIÇÃO SÃO COMUNIDADES LOCAIS QUE PROCURAM FORMAS DE ADOTAR UM ESTILO DE VIDA MENOS MATERIALISTA, DE MODO A FORTALECER A COESÃO SOCIAL E MELHORAR A CAPACIDADE DAS PESSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS Em 1927, Charles Lindbergh efetuou a sua travessia aérea do Atlântico em busca do prémio de 25 mil dólares. Hoje em dia, a Google financia um XPrize de 30 milhões de dólares cujo objetivo é levar um robô, criado com financiamento privado, a aterrar na Lua. Pode ser o anúncio de uma nova era de exploração comercial do nosso satélite. Existem XPrizes em quatro categorias: energia e ambiente, exploração, ciências da vida, educação e desenvolvimento global. Por fim, temos o quadrante superior esquerdo, na interseção do governo de cima para baixo com
Destas descobertas, a ciência de transição pretende retirar um repertório de políticas adequadas (é por este motivo que, em primeira instância, a associamos a uma abordagem de cima para baixo). Esta prática tem sido designada por governo de transição. Dentro deste campo, a gestão de transição é uma abordagem específica, desenvolvida e publicada por investigadores neerlandeses (Rotmans, Loorbach, Kemp). Este último termo tem sido contestado, por sugerir que os sistemas complexos podem ser geridos arbitrariamente, uma sugestão que contradiz nitidamente as descobertas da ciência de transição.
4. Mais informação em: http://www.xprize.org/.
49
046-051.indd 49
28/08/15 11:37
| MUDANÇA |
Na prática, porém, o governo de transição e a gestão de transição serão termos usados para descrever o mesmo conceito5. O governo de transição tem-se baseado em vários princípios oriundos da ciência de transição. Um dos argumentos principais diz que a mudança nos sistemas sociotécnicos complexos é um processo
usar estas dinâmicas para orientar os sistemas complexos (regimes) rumo à sustentabilidade. O governo de transição é uma estratégia única. As transições da sociedade são vistas como um processo contínuo e iterativo de mudança não linear. Longos períodos de estagnação podem ser substituídos por episódios de mudança abrupta.
O GOVERNO DE TRANSIÇÃO REFLETE A DESCOBERTA DE QUE AS NOSSAS SOCIEDADES PÓS-INDUSTRIAIS ESTÃO A EVOLUIR RUMO A UMA MORFOLOGIA EM REDE
que engloba vários níveis. Resulta da interação entre dinâmicas aos níveis micro, médio e macro. O nível micro consiste num fluxo de inovações desenvolvidas e introduzidas por empreendedores (por exemplo, um sistema de partilha de automóveis). Estas inovações desafiam as práticas estabelecidas ao nível intermédio, o chamado regime (um sistema de transportes no qual a propriedade dos automóveis está profundamente enraizada). Este último está, por sua vez, sob a pressão de forças externas ao nível macro (por exemplo, mudanças climáticas, subida dos preços dos combustíveis, fatores geopolíticos, etc.). A ideia subjacente ao governo de transição é a de
Além disso, o governo de transição reflete a descoberta de que as nossas sociedades pós-industriais estão a evoluir rumo a uma morfologia em rede. A política não é elaborada apenas por instituições dedicadas especificamente a esse propósito. Resulta de uma interação entre todo o tipo de novos intervenientes e temas, num contexto de informalidade, fluidez, interdependência, conflito e incerteza. Assim, a gestão de transição derruba, de certa forma, a distinção entre os modelos de cima para baixo e os de baixo para cima que adotámos como componentes centrais da nossa tipologia. A prática do governo de transição resume-se ao apoio a três atividades importantes: desenvolver uma perceção de uma sociedade mais sustentável; conceber e apoiar um conjunto de experiências sociotécnicas delimitadas – atendendo a essa perceção; e manter uma infraestrutura que extrai o conhecimento adquirido nessas experiências e que o aplica à perceção. Intervenientes de diferentes setores da sociedade – civil, política, empresarial – reúnem-se numa arena de transição para levar a cabo esta prática. Assim, a estratégia tradicional de planeamento e implementação é abandonada em favor de um processo de aprendizagem social contínua. A manutenção de um equilíbrio dinâmico entre conceção e surgimento é o principal desafio na gestão de um processo de transição. É precisamente na
5. Mais informação em: http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_management_%28governance%29.
50
046-051.indd 50
28/08/15 11:37
| DESTAQUE |
tensão flexível, parcialmente ilimitada, entre uma perceção coerente e abrangente de um futuro mais sustentável e a natureza parcial e condicionada das experiências – que se espera que contribuam para essa perceção – que distingue o governo de transição da introdução de novas tecnologias, impulsionada apenas pelo mercado. Não há como negar que o governo de transição representa uma síntese convincente de muitas descobertas da teoria de sistemas. Contudo, as experiências com tentativas de transição orientadas pelos governos na última década, nos Países Baixos e na Bélgica, têm demonstrado que é difícil de colocar em prática. Os dirigentes políticos querem, naturalmente, incorporar elementos da abordagem do governo de transição nas suas estratégias habituais de inovação, sem o adotarem por completo. Será necessário mais tempo e experiência para aproveitar ao máximo o potencial do governo de transição como prática de democracia preventiva, na qual as
SERÁ NECESSÁRIO MAIS TEMPO E EXPERIÊNCIA PARA APROVEITAR AO MÁXIMO O POTENCIAL DO GOVERNO DE TRANSIÇÃO COMO PRÁTICA DE DEMOCRACIA PREVENTIVA pessoas aplicam ativamente as suas aptidões na análise e conceção de sistemas social e ecologicamente sustentáveis, tornando-se participantes ativos na definição do seu futuro. RESUMO Vamos agora recapitular a linha de argumentação. Começámos por reconhecer que enfrentamos desafios urgentes. Estes requerem uma intervenção a curto prazo, mas podem simultaneamente ser um impulso para uma transição da sociedade, a longo prazo, rumo à sustentabilidade. Numa tentativa de compreender como as sociedades podem ser levadas à mudança, construímos uma tipologia das principais estratégias de transição.
Obviamente, esta tipologia é uma simplificação importante de um campo muito complexo. A tipologia revela três estratégias familiares: as baseadas em sistemas de inovação guiados pela ciência, os incentivos solidamente financiados (prémios) ao empreendedorismo e uma grande variedade de iniciativas de reforma. Colocámos o governo de transição como uma quarta estratégia arquetípica. Este ponto parece ser particularmente importante, visto que oferece um enquadramento sofisticado para guiar os processos de aprendizagem social. É importante saber que estas quatro estratégias de transição não estão compartimentalizadas rigidamente. Existe potencial para sinergias e conflitos entre todas elas. 51
046-051.indd 51
28/08/15 11:37
| REFLEXÃO |
COOPERAÇÃO E MISERICÓRDIA A misericórdia, construída sobre a rocha, nunca tem dúvidas acerca da sua razão de ser. Ela vem das profundezas do tempo, do alto dos céus, da inspiração divina. A cooperação, justificada pelo benefício mútuo, pela solidariedade humana, pelo interesse planetário, pelo sentido de classe, denuncia a areia solta em que andamos a construir. Texto de João César das Neves [ECONOMISTA, IRMÃO DA IRMANDADE DA MISERICÓRDIA E DE SÃO ROQUE DE LISBOA]
O
nosso povo diz que “quem não tem cão caça com gato”, mas nunca explicou o que devia acontecer no caso inverso. Muita gente julga que essa omissão se deve ao facto de ser evidente a resposta: quem tem cão caça com o cão. Pode ser verdade, mas neste mundo a evidência costuma andar muito ofuscada. No campo do desenvolvimento a humanidade costumava caçar com cão e depois, embora o mantivesse, decidiu mudar para gato. Durante milénios o mundo não fazia cooperação porque tinha algo muito mais poderoso, belo, eficiente: a misericórdia. A razão da superioridade desta vem da sua natureza. A misericórdia nasceu no mais alto dos céus, pois ela é o maior atributo de Deus, a “maior prova do Seu amor” (cf. oração colecta da XXVI semana do Tempo Comum). Apesar de surgir de tão alto,
ela desceu até nós. Como o Senhor nos fez à Sua imagem e depois nos redimiu pessoalmente, todos os Seus dons chegaram até aqui, incluindo o mais maravilhoso de todos. Assim recebemos a misericórdia, que podemos agora usar nos contactos com os nossos irmãos. É por isso que ela é a forma suprema de vida em comum, o meio de todos cooperarmos juntos no caminho para o derradeiro desenvolvimento, a felicidade eterna. Se fosse preciso uma prova histórica, bastaria ver como nos últimos quinhentos anos as Santas Casas mudaram o planeta usando apenas este meio sublime de cooperação. Foi então que, no tempo dos nossos pais, mais uma vez, a humanidade abandonou a evidência, pensando que aquilo que sempre soubera afinal estava errado e desejando procurar coisas novas. Isto é algo recorrente na história. O próprio
52
Untitled-7 52
28/08/15 11:38
| DESTAQUE |
Altíssimo, pela boca do profeta Jeremias, mostra como é fácil cair na tentação de abandonar o óbvio: “Porque o meu povo cometeu um duplo crime: abandonou-me, a Mim, nascente de águas vivas, e construiu cisternas para si, cisternas rotas, que não podem reter as águas” (Jr 12, 13). A nossa sociedade que, durante tantos séculos, bebia a mais pura doutrina diretamente da fonte, anda ultimamente a procurar no meio da lama, ficando muito contente quando encontra alguns resquícios da sabedoria que antes tinha em abundância. O resultado tinha de ser a desgraça, a guerra, o horror. Então, perdida na lama da sua loucura, a humanidade foi procurar algo que a curasse e encontrou a cooperação, imitação fraca, baça e esbatida da misericórdia. Foi assim que o mundo começou a cooperar. Qual é o mal de fazer cooperação? Não será isso apenas uma forma mais básica, aberta e englobante de levar aos outros a nossa misericórdia? Não pode a Igreja, usando o conceito de cooperação, cumprir a sua missão de forma mais compreensível e pedagógica para todos? A cooperação tem, sem dúvida, uma figura parecida com a da misericórdia, mas falta-lhe a raiz, o propósito, a direção. Por que razão devemos cooperar? Esta é a pergunta a que a cooperação nunca consegue dar resposta. A misericórdia, como vem construída sobre a rocha, nunca tem dúvidas acerca da sua razão de ser. Ela vem das profundezas do tempo, do alto dos céus, da inspiração divina. Mas a cooperação vem de onde? Se a justificarmos pelo benefício mútuo, pela solidariedade humana, pelo interesse planetário, pelo sentido de classe, fica logo evidente em que areia solta andamos a construir. Cooperar é bom, mas ninguém realmente consegue dizer porquê. Significa isto que os que cooperam fazem mal? Não, eles fazem bem, às vezes até muito bem. Mas não conhecem o motivo. São como “os que recebem a semente em terreno pedregoso”. Esses, “ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes e, quando surge a tribulação ou a per-
seguição por causa da palavra, logo desfalecem” (Mc 4, 16-17). Por isso, sem razões e sem destino, estão desorientados e frequentemente acabam por fazer muito mal a si e aos outros. No fundo, estão como os sacerdotes, doutores da lei, pastores e profetas da Jerusalém do tempo de Jeremias: “Os sacerdotes não se interrogaram: ‘Onde está o Senhor?’ Os doutores da lei não me reconheceram, os pastores revoltaram-se contra mim, e os profetas profetizaram em nome de Baal e seguiram deuses inúteis.” (Jr 2, 8).
A NOSSA SOCIEDADE QUE, DURANTE TANTOS SÉCULOS, BEBIA A MAIS PURA DOUTRINA DIRETAMENTE DA FONTE, ANDA ULTIMAMENTE A PROCURAR NO MEIO DA LAMA, FICANDO MUITO CONTENTE QUANDO ENCONTRA ALGUNS RESQUÍCIOS DA SABEDORIA QUE ANTES TINHA EM ABUNDÂNCIA”
É bom lembrar que aqueles a quem o profeta se dirigia eram pessoas bem-intencionadas, empenhadas e eficazes. Eles eram pragmáticos, produtivos, realistas e faziam muita cooperação para o desenvolvimento. Tinham tudo, mas faltava-lhes o essencial: “Acaso troca uma nação os seus deuses? E, no entanto, aqueles não são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não vale.” (Jr 2, 11). Isso até espanta o próprio Deus: “Pasmai, ó céus, acerca disto! Tremei de espanto e de horror! – oráculo do Senhor.” (Jr 2, 12). 53
Untitled-7 53
28/08/15 11:38
| INTERVENÇÃO |
CLIENTES MUITO VULNERÁVEIS
A GESTÃO DE CASOS COMO estratégia
colaborativa
Texto de Sofia Rodrigues [PSICÓLOGA, TERAPEUTA FAMILIAR E DOUTORANDA NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO]
A literatura tem vindo a sugerir a implementação do gestor de caso e de práticas colaborativas na intervenção social junto de clientes muito vulneráveis, como forma de obter resultados mais eficazes. Este artigo retrata a gestão de caso colaborativa e fornece pistas úteis para profissionais e serviços.
A
tualmente, a intervenção social com clientes muito vulneráveis atravessa um período de forte disseminação dos modelos de gestão de casos, associados aos mais recentes paradigmas da intervenção contemporânea. Esta evolução reclama uma prática mais colaborativa e centrada nas competências e forças dos clientes, sejam pessoas, famílias, grupos ou comunidades, por oposição às abordagens tradicionais ou centradas nos problemas e défices (MADSEN, 2007; SALEEBEY, 1996; SANTOS, ALBUQUERQUE e ALMEIDA, 2013; SOUSA e RODRIGUES, 2012). A gestão de casos (GC) consiste numa abordagem na prestação de serviços através da qual é designado um profissional-chave – gestor de caso – que avalia as necessidades e potencialidades dos clientes e organiza e coordena um conjunto de respostas que atendam às suas necessidades. Esta abordagem tem sido apontada como benéfica na intervenção social junto de populações com múltiplas necessidades (e.g., envolvidas em rotas de pobreza e exclusão social) e que requerem o acesso a uma ampla gama de serviços e diferentes formas de suporte (SOUSA e RODRIGUES, 2012).
54
Untitled-9 54
28/08/15 11:41
| SOCIAL |
Este artigo apresenta, sucintamente, a GC como estratégia colaborativa, elucidando as suas fases, princípios e boas práticas no âmbito da intervenção social com clientes muito vulneráveis. OS CLIENTES MUITO VULNERÁVEIS Os clientes muito vulneráveis são, frequentemente, descritos na literatura como entidades que enfrentam múltiplos desafios: sobrevivem com rendimentos insuficientes ou instáveis; apresentam problemas de saúde graves/crónicos; vivem em casas com condições precárias; encontram-se desempregados ou têm emprego precário (e.g., SOUSA, HESPANHA, RODRIGUES e GRILO, 2007; SUMMERS, TEMPLETON-MCMANN e FUGER, 1997; RODRIGUES e SOUSA, 2013). Apesar das dificuldades, estes clientes debatem-se diariamente por melhores condições de vida e tendem a interagir com diferentes sistemas e redes de serviços (e.g. sociais e de saúde, escolas), frequentemente pouco coordenados e fragmentados (BUTLER, MCARTHUR, THOMSON e WINKWORTH, 2012; SOUSA et al., 2007; SUMMERS et al. 1997). A fraca interligação entre profissionais e serviços tende a gerar a sobreposição de intervenções, a duplicação de esforços por parte dos profissionais e dos clientes e o desaproveitamento de recursos limitados (ELIZUR e MINUCHIN, 1989; COLAPINTO, 1995; BOYD-FRANKLIN, 2003). Para os clientes tal pode significar uma fonte adicional de stress e sobrecarga no tempo despendido na interação com os serviços, bem como a recontagem da sua história de vida (retraumatização/vitimização) num momento em que estão frágeis. Para os profissionais, pode acarretar o abandono precoce dos programas de apoio por parte dos clientes ou a sua manutenção durante vários anos nos serviços, sem que isso signifique uma melhoria efetiva da sua qualidade de vida. Como tal, revela-se premente identificar estratégias para uniformizar procedimentos e fortalecer os vínculos entre todos os intervenientes: clientes, profissionais e diferentes serviços. No caso particular dos clientes muito vulneráveis, a
literatura sustenta que a intervenção social tende a ser favorecida quando, para cada caso, é designado um profissional-chave, que assume o papel de gestor e coordena, em colaboração com a família, os apoios formais e informais a ativar ao longo do acompanhamento (e.g., SOUSA e RODRIGUES, 2012).
A GESTÃO DE CASO TEM SIDO APONTADA COMO BENÉFICA NA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE POPULAÇÕES COM MÚLTIPLAS NECESSIDADES E QUE REQUEREM O ACESSO A UMA AMPLA GAMA DE SERVIÇOS E DIFERENTES FORMAS DE SUPORTE” A EMERGÊNCIA DAS ABORDAGENS COLABORATIVAS As abordagens colaborativas têm sido definidas como um estilo de intervenção não-hierárquico e não-confrontativo, cujo foco principal assenta na colaboração e na parceria entre profissionais e clientes (MADSEN, 2007; MONK e GEHART, 2003). Nestas abordagens, as forças do cliente são tidas como oportunidades (frequentemente distorcidas pelas circunstâncias e vivências de trauma e opressão) que necessitam de ser identificadas para apoiar os clientes na construção de soluções e na tomada de decisões face às mudanças desejadas (GREEN, LEE e HOFFPAUIR, 2005; MONK e GEHART, 2003; WHITE & EPSTON, 1990). 55
Untitled-9 55
28/08/15 11:41
| INTERVENÇÃO |
AS ABORDAGENS COLABORATIVAS PODEM SER DEFINIDAS COMO UM ESTILO DE INTERVENÇÃO NÃO-HIERÁRQUICO E NÃO-CONFRONTATIVO, CUJO FOCO PRINCIPAL ASSENTA NA COLABORAÇÃO E NA PARCERIA ENTRE PROFISSIONAIS E CLIENTES”
A GESTÃO DE CASOS COMO ESTRATÉGIA COLABORATIVA A GC emerge, assim, como um processo colaborativo de prestação de serviços que visa responder às necessidades, potencialidades e objetivos dos clientes e assenta no desenvolvimento de estratégias flexíveis de comunicação, coordenação e otimização dos recursos in/formais para ajudá-los a atingir esses objetivos (e.g., CMSA, 2010; WILSON, 2002).
O termo colaborativo sublinha a arena de trabalho conjunto e a partilha de expertise e poder entre todos os intervenientes: os clientes são experts na sua história de vida, necessidades e desejos de mudança; os profissionais são experts na condução do processo de intervenção e na ativação das capacidades dos clientes e respetiva rede informal, com vista à consecução dos objetivos definidos (e.g., MADSEN, 2007). A GC engloba uma dupla vertente: i) o suporte direto ao cliente (assente na avaliação diagnóstica e planeamento conjunto e individualizado da intervenção); ii) a coordenação e ativação das redes formais e informais (para fortalecer e sustentar as mudanças desejadas ao longo do tempo). O objetivo da GC consiste em ajudar os clientes a identificar, assegurar e promover os recursos internos e externos (e.g., ao nível do emprego, educação, habitação, cuidados de saúde, apoio social e familiar, lazer) de que necessitam para viver da forma mais autónoma possível na comunidade (RAPP, 1998; SIMPSON, MILLER e BOWERS, 2003; WILSON, 2002). Na GC a prestação de serviços carateriza-se por ser individualizada e sustentada em relações de confiança, compreensão e respeito mútuo com os clientes e suas redes informais e formais (WATKINS, 2001). O gestor de caso assume duas funções essenciais (ver figura 1): capacitar o cliente para atingir o seu potencial e facilitar uma interação mais positiva entre o cliente e a rede social mais alargada, para
FIGURA 1. Enfoque da gestão de caso
CAPACITAR o cliente para atingir o seu potencial
FACILITAR o acesso do cliente aos recursos que melhor respondem às suas necessidades
GESTÃO DE CASO
56
Untitled-9 56
28/08/15 11:41
| SOCIAL |
fazer face às suas necessidades/desejos de mudança (MOORE, 1990; O’CONNOR’S 1988; RAPP, 1998). Em geral, as potencialidades da GC têm sido associadas à possibilidade de os clientes usufruírem de um profissional-chave como ponto central de contacto (evitando a dispersão de informação) e a um maior envolvimento dos clientes na tomada de decisões (SIMPSON et al., 2003). Os clientes sentem que têm um papel importante na identificação das suas necessidades e preferências e experimentam um maior nível de controlo em todo o processo de ajuda (GRECH, 2002; WILSON, 2002). A este propósito a literatura tem vindo a realçar um conjunto de fatores centrais na facilitação da relação de confiança entre o gestor de caso e os clientes muito vulneráveis. O gestor de caso deve: providenciar recursos materiais e apoio nas atividades da vida diária; ser flexível, para conciliar o plano de intervenção com a resposta a necessidades urgentes, sem perder o fio condutor da intervenção; adotar uma postura mais próxima dos clientes, trabalhando preferencialmente no seu contexto natural de vida; e revelar abertura para se envolver em relações de longa duração, permitindo que os profissionais apoiem os clientes enquanto for necessário (LEIGH e MILLER, 2004; MADSEN, 2009; SIMPSON et al., 2003; SOUSA et al., 2007; SOUSA e RODRIGUES, 2012; RAPP, 1998). O PROCESSO DE GESTÃO DE CASO Os componentes da GC podem ser colocados em prática de diferentes formas, de acordo com a filosofia, estrutura e recursos de cada entidade e o grupo-alvo a que se dirigem. Para promover um serviço consistente e de qualidade junto das populações vulneráveis, os serviços são encorajados a implementar uma abordagem de inspiração colaborativa baseada em oito componentes-chave (ver figura 2). Para cada um destes componentes, é necessário desenvolver políticas e procedimentos escritos que formalizem as práticas utilizadas pelos ser-
viços e profissionais (e.g., CMSA, 2010). A GC abrange todo o processo, desde que o cliente é admitido no serviço até que termina o acompanhamento e se realiza a avaliação final. Engloba uma avaliação diagnóstica, o planeamento e o desenvolvimento da intervenção, a coordenação, monitorização e revisão regular das ações acordadas, com vista a responder, em momento oportuno (e com qualidade), às necessidades e potencialidades do cliente. O quadro 1 apresenta uma breve descrição de cada um dos componentes-chave da GC. A definição do número de casos por gestor e a composição das equipas constituem dois tópicos sensíveis na implementação da GC. Em geral, é concebível que cada gestor de caso possa suportar um número limitado de casos (aprox. 25), mas este número pode diminuir quando se trata de população com múltiplas necessidades, complexas e de longa duração, como por exemplo a população sem-abrigo (BARONET e GERBER, 1998; SIMPSON et al., 2003). Este número reduzido possibilita que os profissionais disponham de tempo para: i) desenvolver relações de confiança com os clientes e com os parceiros (e.g., possibilitando a manutenção regular de contactos); ii) implementar diversas intervenções
REVELA-SE PREMENTE IDENTIFICAR ESTRATÉGIAS PARA UNIFORMIZAR PROCEDIMENTOS E FORTALECER OS VÍNCULOS ENTRE TODOS OS INTERVENIENTES: CLIENTES, PROFISSIONAIS E SERVIÇOS” 57
Untitled-9 57
28/08/15 11:41
| INTERVENÇÃO |
FIGURA 2. Componentes-chave1 do processo de gestão de caso
1. Admissão 8. Avaliação final
2. Avaliação inicial
CLIENTE 3. Planeamento
7. Encerramento
GESTOR DE CASO
4. Suporte direto
6. Monitorização e revisão 5. Coordenação
psicossociais e de apoio à realização das atividades da vida diária (muito valorizadas pelos clientes em situação de crise); iii) dispor de oportunidades para refletir e monitorizar casos a fim de trabalhar de forma mais colaborativa (aumentando a proatividade e reduzindo a reatividade aos eventos inesperados); iv) receber apoio adequado na forma de supervisão regular; e v) aceder a formação contínua, nomeadamente em áreas especializadas (e.g., saúde mental, intervenção em rede) (MILLER, FREEMAN e ROSS, 2001; SIMPSON et al., 2003; RAPP, 1998). A constituição de equipas interdisciplinares é geralmente benéfica quando os clientes apresentam uma situação de elevada vulnerabilidade em que requerem apoio de vários serviços ou apresentam necessidades urgentes que exijam uma resposta in-
tensiva (e.g., as famílias com menores que se encontrem em situação de risco). A literatura observa que a GC pode ser desempenhada por qualquer membro da equipa, desde que demonstre capacidades técnico-científicas e relacionais. A seleção do gestor de caso deve ser acordada em função do acompanhamento mais adequado face à situação em causa, escolhendo-se o profissional que, pela sua especificidade, proporcione maior número de vantagens ao cliente. Por exemplo, se um familiar é diagnosticado com um problema de saúde raro pode ser mais adequado propor um profissional de saúde como o gestor de caso. ESTRATÉGIAS PARA UMA PRÁTICA COLABORATIVA EM GESTÃO DE CASO A natureza colaborativa da GC reside no desenvolvimento de uma postura mais humanista e próxima entre profissionais e clientes e na coordenação integrada dos diversos serviços
NA GESTÃO DE CASOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARATERIZA-SE POR SER INDIVIDUALIZADA, FLEXÍVEL E CULTURALMENTE SENSÍVEL, SUSTENTADA EM RELAÇÕES DE CONFIANÇA, COMPREENSÃO E RESPEITO MÚTUO COM OS CLIENTES/ FAMÍLIAS E SUAS REDES INFORMAIS E FORMAIS”
1. Estes elementos não são executados do primeiro ao oitavo. Na prática, alguns elementos podem ser combinados (e.g., admissão e avaliação inicial) ou ocorrer em simultâneo (e.g., a avaliação diagnóstica é permanente, enquanto a monitorização e revisão estão sempre em curso).
58
Untitled-9 58
28/08/15 11:41
| SOCIAL |
QUADRO 1. O processo de gestão de caso Fases/componentes-chave
Descrição
1. Admissão/Entrada
Compreende as práticas de acolhimento do serviço e os procedimentos para este se certificar de que tem capacidade para providenciar o suporte solicitado.
2. Avaliação inicial/diagnóstica
Envolve a obtenção de informações relevantes acerca das necessidades atuais do cliente, recursos internos e externos, desejos e expectativas. A avaliação é um processo contínuo e pode diferenciar-se entre avaliação diagnóstica em contexto de crise (envolve olhar para as necessidades imediatas de segurança, saúde, rendimentos e bem-estar) ou global (incorpora necessidades a longo prazo, forças, esperanças e preferências dos clientes).
3. Planeamento
Consiste no processo de concordar mutuamente nos objetivos a alcançar (no imediato, a médio e/ou longo prazo), planear ações para atender às necessidades dos clientes e desenvolver estratégias que apoiem o cliente e/ou familiares a se ajudar(em). O plano deve incluir os diferentes intervenientes e especificar os papéis e funções que desempenham ao longo do processo de ajuda.
4. Suporte direto
Compreende a implementação do plano de intervenção/ação. Envolve o trabalho real com e para os clientes, incluindo a prestação de serviços.
5. Coordenação
Consiste no processo de facilitar ativamente a ligação dos clientes aos serviços, profissionais e recursos essenciais para apoiar a resposta às suas necessidades. Envolve compreender o papel de outros serviços e desenvolver relações profissionais de cooperação com esses serviços. Requer o desenvolvimento de protocolos com entidades locais (por exemplo, protocolos para encaminhamentos ou para planeamento e monitorização conjunta).
6. Monitorização e revisão
Compreende a prática de reavaliação das necessidades e revisão do plano de ação, para mantê-lo atualizado com as necessidades do cliente, dentro do cronograma proposto.
7. Encerramento do caso,
Envolve o planeamento da saída do serviço ou a transição para um outro
planeamento da saída
serviço. Indica todos os follow-up a serem realizados (e.g., datas previstas;
e seguimento/follow-up
itens a avaliar; quem avalia e procedimentos a adotar).
8. Avaliação final
Consiste no processo de obter feedback sobre a qualidade dos serviços (e.g., eficácia; nível de satisfação) junto dos clientes e profissionais envolvidos.
59
Untitled-9 59
28/08/15 11:41
| INTERVENÇÃO |
prestados (MADSEN, 2009). Em jeito de conclusão, o quadro 2 resume um conjunto de princípios e de boas práticas que apoiam os serviços e os profissionais na implementação de práticas
colaborativas nas diversas fases do processo de GC (e.g., CMSA, 2010; GRECH, 2002; MADSEN, 2007; SIMPSON et al., 2003; RODRIGUES e SOUSA, 2013).
QUADRO 2. Princípios e estratégias para a prática colaborativa em gestão de caso Elaborar brochuras informativas sobre os direitos e responsabilidades dos serviços, profissionais e clientes (e.g., regras de funcionamento e serviços disponíveis, procedimentos de reclamações, confidencialidade das informações) numa linguagem acessível. Quando necessário, acionar serviços de tradução para garantir que todos os clientes compreendem informações relevantes acerca do seu processo de ajuda. Fornecer informações em pequenas parcelas, de modo a garantir que essa informação seja compreendida pelo cliente, sobretudo se estiver em situação de stress. Certificar-se de que os clientes se encontram disponíveis para se envolverem numa avaliação global. Se o cliente se encontra em stress ou angustiado, apenas consegue lidar com as necessidades imediatas. Assim, pode demorar alguns dias até conseguir pensar sobre as necessidades a médio e longo prazo ou a reconhecer competências/recursos. Sempre que possível, obter o consentimento (preferencialmente escrito) dos clientes para encaminhamentos, contactos com rede in/formal e concretização dos planos de apoio. As entidades externas são apenas envolvidas quando servem o melhor interesse do cliente. Apoiar os clientes a estabelecerem objetivos exequíveis e a maximizar as opções disponíveis, apoiando-os a tomar decisões informadas. Certificar-se de que os clientes compreendem os planos de apoio e que recebem uma cópia em linguagem e formato acessível (por exemplo, com recurso a imagens). Os planos podem incluir espaço para os clientes anotarem as ações e respetivos resultados. Garantir que o cliente se encontra ativamente envolvido no processo de ajuda e que quaisquer decisões tomadas reflitam as suas necessidades e desejos. Clarificar as funções e os papéis específicos de cada um dos intervenientes no plano de apoio (junto dos clientes e restante rede formal) para assegurar a não sobreposição de papéis e duplicação de esforços. Sempre que possível, os gestores de caso devem estabelecer contactos com outros serviços na presença dos clientes (para proporcionar uma oportunidade de aprendizagem para o futuro). Monitorizar o plano de ação com regularidade e proceder a uma revisão/reavaliação em colaboração com o cliente. Se não existirem progressos no plano de ação, deve organizar-se uma revisão para averiguar o que não está a funcionar e introduzir alterações, se necessário. As conquistas do cliente devem ser sempre reforçadas e o gestor de caso deve garantir que existem sempre alternativas e opções adicionais quando surgem obstáculos. Desenvolver metodologias para avaliar a eficácia e a satisfação dos clientes e dos restantes intervenientes envolvidos no processo de ajuda.
60
Untitled-9 60
28/08/15 11:41
| SOCIAL |
BIBLIOGRAFIA BARONET, A.M. e GERGER, G.J. – Psychiatric rehabilitation: efficacy of four models. Clinical Psychology Review. Vol. 18, n.º 2 (1998), pp. 189-228. BOYD-FRANKLIN, Nancy – Black families in therapy. Nova Iorque: Guilford, 2003. BUCKLEY, Elizabeth; DECTER, Philip – From isolation to community: collaborating with children and families in times of cri-
in collaborative and narrative therapies. Family Process. Vol. 42 (2003), pp. 19-30. MOORE, S.T. – A social work practice model of case management: the case management grid. Social Work. Vol. 35, n.º 5 (1990), pp. 444-448. O’CONNOR, G. – Case management: system and practice. Social Casework. Vol. 69, n.º 2 (1988), pp. 97-106.
sis. The International Journal of Narrative Therapy and Community
RAPP, Charles – The strengths model: case management with
Work. N.º 2 (2006). [Consult. 1 janeiro 2014]. Disponível em
people suffering from severe and persistent mental illness. Oxford:
http://www.dulwichcentre.com.au/from-isolation-to-com-
Oxford University Press, 1998.
munity.pdf.
RODRIGUES, Sofia; SOUSA, Liliana – Emergência de aborda-
BUTLER, Kate; MCARTHUR, Morag; THOMSON, Lorraine;
gens colaborativas na intervenção com famílias vulneráveis. In
WINKWORTH, Gail – Vulnerable families’ use of services: getting
Manual de práticas colaborativas e positivas na intervenção social.
what they need. Australian Social Work. Vol. 65, n.º 4 (2012), pp.
O projeto “Para além da crise: otimismo, criatividade e capacitação”.
575-581.
2013. [Consult. 5 janeiro 2014]. Disponível em http://www.
COLAPINTO, Jorge – Dilution of family process in social services. Family Process. Vol. 34 (1995), pp. 59–74. CMSA – Standards of practice for case management. Arkansas: Case Management Society of America, 2010. Disponível em http://www. cmsa.org.
eapn.pt/docs/publicacao_praticas_colaborativas.pdf. SALEEBEY, Dennis – The strengths perspective in social work practice: extension and cautions. Social Work. Vol 41, n.º 3 (1996), pp. 296-305. SANTOS, Clara Cruz; ALBUQUERQUE, Cristina Pinto;
ELIZUR, Joel; MINUCHIN, Salvador – Institutionalizing mad-
ALMEIDA, Helena Neves – Serviço Social: mutações e desafios.
ness: families, therapy and society. Nova Iorque: Basic Books, 1989.
1.ª ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013.
GRECH, E. – Case management: a critical analysis of the literature. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 6 (2002), pp. 89-98. GREENE, Gilbert; LEE, Mo Yee; HOFFPAUIR, Susan – The languages of empowerment and strengths in clinical social work: a constructivist perspective. Families in Society. Vol. 86, n.º 2 (2005), pp. 267-277. LEIGH, Sarah; MILLER, Chris – Is the third way the best way? Journal of Social Work. Vol. 4 (2004), pp. 245-267. MADSEN, William – Collaborative therapy with multistressed families: from old problems to new futures. Nova Iorque: Guilford Press, 2007. MADSEN, William – Collaborative helping: a practice framework for family-centered services. Family Process. Vol. 48 (2009), pp. 103-116. MILLER, C.; FREEMAN, M.; ROSS, N. – Interprofessional practice in health and social care: challenging the shared learning agenda. Londres: Arnold, 2001.
ISBN 972-989-26-0266-0. SIMPSON, A.; MILLER, C.; BOWERS, L. – Case management models and the care programme approach: how to make the CPA effective and credible. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Vol. 10 (2003), pp. 472-483. SOUSA, Liliana; HESPANHA, Pedro; RODRIGUES, Sofia; GRILO, Patrícia – Famílias pobres: desafios à intervenção social. Lisboa: Climepsi Editores, 2007. SOUSA, Liliana; RODRIGUES, Sofia – The collaborative professional: towards empowering vulnerable families. Journal of Social Work Practice. Vol. 26, n.º 4 (2012), pp. 411-425. SUMMERS, Jean; TEMPLETON-MCMANN, Oneta; FUGER, Kathryn – Critical thinking. Topics in Early Childhood Special Education. Vol. 17, n.º 1 (1997), pp. 27-52. WATKINS, P. – Mental health nursing: the art of compassionate care. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. WHITE, Michael; EPSTON, David – Narrative means to therapeutic ends. Nova Iorque: Norton and Company, 1990.
MONK, Gerald; GEHART, Diane – Conversational partner or
WILSON, I. – Case management. In psychosocial interventions
sociopolitical activist: distinguishing the position of the therapist
for people with schizophrenia. Basingstoke: Palgrave Macmilla, 2002.
61
Untitled-9 61
28/08/15 11:41
| COESÃO |
PARCERIAS E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA A parceria, estrutura organizacional em rede, apresenta-se como uma estratégia de trabalho colaborativo ajustada ao contexto atual. Uma exigência para o trabalho em parceria é a educação para a cidadania, condição indispensável à sua existência, mas também consequência objetiva das suas boas práticas.
Texto de Hermano Carmo1 e Ana Esgaio2 [1. PROFESSOR CATEDRÁTICO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS_UNIVERSIDADE DE LISBOA E DA UNIVERSIDADE ABERTA, 2. ASSISTENTE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS_UNIVERSIDADE DE LISBOA]
62
Untitled-10 62
28/08/15 11:42
| SOCIAL |
INTRODUÇÃO: O CONTEXTO DAS PARCERIAS esde meados do século passado, começou a emergir na sociedade industrial uma terceira vaga de mudança (TOFFLER, 1980)1 marcada pela transitoriedade, pela novidade e pela diversidade (TOFFLER, 1970). Tal como sucedeu com as outras duas, esta última caraterística embebeu generalizadamente a estrutura social, afetando profundamente as organizações. Até então, a estrutura organizacional dominante era a burocrática, reconhecível por uma hierarquia e por uma especialidade funcional bem definidas, e pela predominância de comunicações assentes no suporte scripto. Desde o final dos anos cinquenta do século xx, observou-se um caleidoscópio de formas de organização, algumas identificadas com nomes bizarros como “bifaciais”, “pulsáteis”, ou “equipas selvagens” (TOFFLER, 1991) que, de comum, tinham o facto de serem de estrutura adhocrática – identificável pelo seu ciclo de vida curto e por uma geometria flexível, variável em função dos objetivos – e pelo seu relacionamento em rede (CASTELS, 2005). A estrutura organizacional em rede é, ela própria, indício da diversidade geral, apresentando diversas configurações mais ou menos densas. A parceria, seguidamente tratada com mais detalhe, é uma delas.
D
A PARCERIA COMO ESTRATÉGIA DE TRABALHO COLABORATIVO O atual contexto de crise económico-financeira e as suas influências a nível social contribuem para uma rápida mutação e complexificação dos problemas sociais2 que, pela sua multidimensionalidade, exigem a articulação de uma diversidade de competências e de atores para uma adequada análise e intervenção social. Neste contexto, sendo inevitável o reforço das missões das diversas configurações
organizacionais (organizações da economia social e solidária, empresas e administração pública), parece também fundamental reforçar o trabalho colaborativo desenvolvido entre atores sociais no âmbito da intervenção social. Explorando etimologicamente o conceito de parceria, esta surge-nos como um conjunto de parceiros: o termo conjunto identifica a natureza coletiva do conceito e o termo parceiro aquele que participa em ou que compartilha de (CARMO, 2015). A parceria sugere, pois, o trabalho de um conjunto de pessoas, grupos, equipas e organizações, dotado de heterogeneidade e identidade (CARMO, 2015). Podemos enquadrar o conceito de parceria no âmbito das estratégias de trabalho colaborativo, que procuramos representar graficamente na figura 1. As estratégias de trabalho colaborativo representadas constituem-se como diferentes níveis de aprofundamento do mesmo, partindo de uma fase de simples trabalho em rede, com uma visão essencialmente instrumental de troca de informação para benefício mútuo, até chegar a uma prática de mútuo empowerment, na fase mais integrada de colaboração. À medida que se avança no contínuo rede-colaboração, o grau de confiança e a necessidade de implantação territorial aumentam, fortalecendo o FIGURA 1. Estratégias do trabalho colaborativo Redes
Coordenação
Cooperação
Colaboração
Troca de informação para benefício mútuo Mudança de atividades para um objetivo comum Utilização de recursos para um objetivo comum
Fonte: adaptado de HIMMELMAN,
Capacitação institucional
2001 cit. por ESGAIO, 2010: 91.
1. De acordo com Toffler (1980), as primeiras duas tiveram que ver com o começo das civilizações agrícolas e com a Revolução Industrial. 2. Utilizamos neste contexto o conceito de problema social “como uma alegada situação incompatível com os valores de um significativo número de pessoas, que concordam ser necessário agir para a alterar” (RUBINGTON e WEINBERG, 1995: 4).
63
Untitled-10 63
28/08/15 11:42
| COESÃO |
capital social3 do conjunto de stakeholders (partes interessadas) e propiciando a sedimentação de relações cada vez mais duráveis e eficientes4, e de resultados mais eficazes5 (HIMMELMAN, 2001). Desta forma, o nível que Himmelman (2001) designa como de colaboração, condiciona uma estratégia de trabalho mais complexa e, por consequência, mais exigente, uma vez que implica um forte relacionamento e equilíbrio entre os atores presentes. Assim, parece-nos que a estratégia de colaboração, tal como definida por aquele autor, será a mais aproximada do conceito de parceria que adotamos ao longo deste texto.
Desta forma, colocam-se diversos desafios à gestão das parcerias, sendo fundamental a democratização das relações entre parceiros, já que parceiros com níveis de poder, objetivos e tipologia diversos têm de relacionar-se entre si, de forma a prosseguir um objetivo comum. Neste sentido, é fundamental que os agentes tradicionais da intervenção social (entidades públicas e organizações da economia social e solidária) interajam com outras organizações (empresas), no sentido de construir uma nova abordagem às questões da exclusão social, minimizando os impactes do processo de estigmatização de que os seus clientes
AS PARCERIAS CARATERIZAM-SE PELA DIVERSIDADE DE PERCEÇÕES E RECURSOS EM PRESENÇA, PERMITINDO CRIAR SINERGIAS ATRAVÉS DA PARTILHA DESSES RECURSOS As parcerias caraterizam-se pela diversidade de perceções e recursos em presença, permitindo criar sinergias através da partilha desses recursos, exigindo, da parte das organizações, o reconhecimento da sua interdependência e a necessidade de integrarem esta metodologia de trabalho na sua gestão quotidiana. Estas caraterísticas conferem às parcerias flexibilidade e eficiência na resposta às necessidades dos sistemas-clientes, podendo conduzir ao empowerment organizacional e individual, pela capacidade acrescida de dar respostas adequadas e suficientemente abrangentes aos problemas sociais e pelo envolvimento cívico que proporcionam. Por outro lado, pela diversidade que contêm, apresentam um elevado potencial de inovação e criatividade6 (CARMO, 2015).
são alvo quando procuram os seus serviços e dos seus efeitos na dependência dos sistemas-cliente relativamente a esses serviços (ESGAIO, 2010). A definição de uma estratégia de parceria é outro dos desafios que se impõem. Implica a definição clara e conhecida de todos os elementos da missão (razão de existência da parceria), da visão (imagens de futuro da parceria) e dos valores (princípios éticos em que se baseia a ação da parceria). Neste sentido, a parceria implica a consensualização de um querer comum, mobilizando os parceiros para os objetivos e para a ação e definindo os produtos e imagens de futuro partilhados, num determinado quadro ético de atuação (CARMO, 2015). Para além destes aspetos, deverá ser definida uma estratégia de comunicação adequada e que assegure a partilha de informações e a sua trans-
3. O capital social pode ser definido simplesmente como um conjunto de valores informais ou normas partilhadas pelos membros de um grupo e que permite a cooperação entre essas pessoas (FUKUYAMA, 2000: 36). 4. E, por consequência, economizadoras de recursos. 5. E, por consequência, mais convergentes com os resultados desejados. 6. Estas caraterísticas e vantagens não devem levar-nos a concluir que o trabalho em parceria é a melhor estratégia em qualquer situação, por oposição, por exemplo, ao modelo burocrático (CARMO, 2015).
64
Untitled-10 64
28/08/15 11:42
| SOCIAL |
formação em conhecimento coletivo, quer internamente, entre parceiros, quer com os protagonistas externos, permitindo um melhor planeamento e uma execução e monitorização mais rigorosas da intervenção. A parceria deve partir das necessidades específicas da população-alvo com que trabalha e delinear um plano de ação que integre, de forma consistente, objetivos gerais, objetivos específicos, estratégias e atividades. Deve ainda conceber um plano de monitorização e avaliação que permita identificar claramente resultados e impactes, tal como reformular a intervenção ao longo do tempo e consolidar a aprendizagem interiorizada pela análise dos seus sucessos e insucessos (CARMO, 2015). EXIGÊNCIAS PARTICULARES DO TRABALHO EM PARCERIA A partir da análise efetuada, podemos listar quatro tipos de exigências no trabalho em parceria (CARMO, 2015): • Controlo do narcisismo individual e organizacional: numa conjuntura que privilegia frequentemente o individualismo e a competição, trabalhar em parceria obriga cada ator a um esforço de humildade, para se pôr ao serviço do bem comum; • Estilo democrático de orientação: obriga a que as decisões sejam preparadas de forma participada, sejam tomadas por decisores legitimados pela parceria e sejam respeitadas de forma disciplinada, o que demora tempo a aprender; • Conjunto de regras que dêem coesão à rede: necessidade de criar e respeitar regras que, por vezes, podem colidir com os interesses particulares das instituições parceiras, o que impõe uma viabilização de facto e não apenas de jure do funcionamento da parceria, sob pena de se quebrar a sua coesão interna; • Maturidade emocional dos protagonistas: necessidade de saber lidar com as emoções próprias e com as dos outros e de mobilizar vontades para atingir os objetivos coletivos, ultrapassando os narcisismos e idiossincrasias pessoais e institucionais. Se forem respeitadas estas quatro exigências, poderão ser criadas as condições para que a interven-
ção social seja planeada, implementada e avaliada com qualidade, quer porque se criam condições para responder de forma articulada às necessidades reais da população-cliente quer porque será possível fazê-lo de forma participada, estreitando os laços interpessoais e aumentando o capital social (CARMO, 2015). Tentar construir e trabalhar em parceria sem a preocupação de procurar respeitar estas quatro exigências parece-nos um caminho perigoso, não só porque conduz à ineficácia (incapacidade para atingir os resultados almejados) e à ineficiência (resultados demasiado escassos, comparados com os recursos investidos), mas também porque vacina a população contra futuras tentativas de intervenção, uma vez que é gravemente ferida a sua sustentabilidade. A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: CONDIÇÃO ANTERIOR A QUALQUER PARCERIA Se assim é, vale a pena meditar sobre uma questão que está a montante de qualquer parceria, a das competências das pessoas que a deverão integrar. Isto remete-nos claramente para o conceito de cidadania. Expliquemo-nos. Considerando de forma simples a cidadania como o estatuto dos que participam na gestão de uma sociedade politicamente organizada, há que admitir, antes de mais, que a cidadania já não é o que era: o conceito de estatuto – conjunto de direitos e deveres – deixou de ser fruto de um mero consenso local, para tender a ser globalizado. Já a sociedade politicamente organizada é muito mais complexa, uma vez que integra mais atores, interações e níveis de organização. A participação, por seu turno, nada tem que ver com a que se registava nas democracias clássicas, ganhando uma densidade acrescida: a história do último século mostrou, tragicamente, que o erro de se considerar a participação como valor absoluto permitiu que vários tipos de totalitarismos manipulassem populações, tornadas massas acríticas, de modo a participarem nos conhecidos crimes contra a humanidade. Mais recentemente, e em sociedades 65
Untitled-10 65
28/08/15 11:42
| COESÃO |
FIGURA 2. Mapa concetual de uma estratégia de educação para a cidadania EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA Eixo 1
Eixo 2
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Vertente 1
Vertente 2
Vertente 3
Vertente 4
Autonomia
Solidariedade
Diversidade
Democracia
área-chave 1
Personalidade
área-chave 2
área-chave 3
área-chave 4
área-chave 5
Liderança
P/ c/ gerações passadas
P/ c/ gerações vivas
P/ c/ gerações futuras
área-chave 9 áreas-chave 6, 7 e 8
Mudança
Pluralismo cultural e social
área-chave 10
Como meta
Como método
nomeadamente HC, 2012, 08-11 Educação intercultural
Complementaridade de género
Diálogo intergeracional
Fonte: CARMO, 2014: 39.
pretensamente democráticas, decisões políticas insensatas têm sido legitimadas por opiniões públicas pouco esclarecidas, levando ao que Strenger (2012) chamou a “Era do bezerro de ouro”, marcada pela obsessão da riqueza e da notoriedade fáceis. Em suma, ser cidadão, hoje, implica a necessidade e a urgência de cada um assumir a responsabilidade social que lhe cabe em todos os papéis do seu quotidiano, ou seja, o compromisso ético de atuar em benefício do bem comum. Como é sabido, tal compromisso não nasce com a pessoa, exige uma aprendizagem. Do nosso ponto de vista, tal aprendizagem está indissociavelmente ligada à educação para a cidadania, que podemos definir como um processo de interiorização de um conjunto de direitos e deveres reconhecidos como legítimos, que permitam aos aprendentes participar ativamente na construção da sua história pessoal e serem igualmente sujeitos empenhados na história coletiva (CARMO, 2014a: 38). Tal processo pode ser operacionalizado no modelo diagramado na figura 2.
De acordo com este mapa concetual (NOVAK, 2000), qualquer estratégia de educação para a cidadania deve ter em conta dois eixos (E), quatro vertentes (V) e dez áreas-chave (AC), podendo assim ser sintetizada (CARMO, 2014: 39): Antes de mais, para se ser cidadão é preciso aprender previamente a ser pessoa (E1), a partir de um processo de desenvolvimento pessoal. Tal educação implica a aquisição de duas competências: • ser autónomo (V1), com o potencial pessoal bem desenvolvido e valores sólidos que o orientem (AC1), procurando servir os outros e não servir-se deles sempre que tiver de exercer papéis de liderança (AC2). • ser solidário (V2), consciente da interdependência com as gerações passadas (AC3), presentes (AC4) e futuras (AC5) e agindo em conformidade. Sendo necessário ser uma pessoa autónoma e solidária, tais caraterísticas não são suficientes para um indivíduo se transformar num cidadão de corpo inteiro: é indispensável aprender também a assumir o tal compromisso com o bem comum, ou seja, a ser socialmente responsável, o que implica outras duas
66
Untitled-10 66
28/08/15 11:42
| SOCIAL |
competências em matéria de desenvolvimento social e político (E2): • lidar com a diversidade (V3) que, a par da transitoriedade e da novidade, constitui um elemento estruturante da sociedade de informação, particularmente a diversidade de ritmos e conteúdos da mudança (AC6), de culturas em presença (AC7), de género (AC8) e de gerações vivas (AC9). • saber viver numa sociedade democrática (V4), num quadro normativo de direitos e deveres (metas) apregoados mas longe de serem universalmente aceites (AC10a), com métodos adequados para construir a democracia no quotidiano (AC10b).
parcerias e consequência objetiva das suas boas práticas, contribuindo deste modo para a realização do direito ao quotidiano estável, quer dos parceiros quer dos cidadãos alvo dos seus cuidados. Esta é a responsabilidade de todos nós ao escolhermos este modo de intervir.
BIBLIOGRAFIA CARMO, H.– Educação para a cidadania no século XXI: trilhos de intervenção. Lisboa: Escolar Editora, 2014. CARMO, H. (coord.) – Desenvolvimento comunitário. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2015.
CONCLUSÃO: A AUTENTICIDADE NECESSÁRIA Num ensaio recente, o autor defendia que a felicidade humana dependia da garantia de um quotidiano estável, para salvaguarda de um conjunto de valores e de direitos fundamentais (FONTES, 2013: 19). Numa sociedade marcada pela anomia e pelo autismo social, o direito ao quotidiano estável assume-se, assim, como uma reivindicação fundamental para garantir a coesão social e para criar terreno à construção de uma orientação coletiva segura. Mas um quotidiano estável assenta, antes de mais, na confiança mútua de cidadãos empenhados no bem comum: sem confiança, as relações interpessoais esboroam-se e, com elas, o capital social das instituições. A responsabilidade social emerge, neste quadro, como um dever cívico incontornável de cidadania, a concretizar quer nas relações interpessoais quer a escalas meso e macro da vida social. Neste quadro, qualquer parceria, como organização com exigências especiais, deve estar ancorada no compromisso com o bem comum. É nossa convicção que sem cidadãos autónomos, solidários, respeitadores da diversidade e da democracia, não haverá parceria que resista. Mas também acreditamos que a experiência do trabalho em parceria, quando realizado com autenticidade, isto é, quando a prática quotidiana dos pares procura aproximar-se seriamente dos ideais proclamados, torna-se ela própria um viveiro de educação para a cidadania. Assim, a educação para a cidadania é, simultaneamente, condição indispensável à existência das
CASTELS, M. – A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 2.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, vol. 1. ESGAIO, A. – A economia social e solidária e os serviços de proximidade em Portugal: a constituição de redes locais de responsabilidade social. O caso de Oeiras. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2010. Dissertação de Mestrado em Sociologia. FONTES, J. – O direito ao quotidiano estável. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. FUKUYAMA, F. – A grande ruptura: a natureza humana e a reconstituição da ordem social. Lisboa: Quetzal, 2000. HIMMELMAN, A. – On coalitions and the transformation of power relations: collaborative betterment and collaborative empowerment. American Journal of Community Psychology. N.º 29: 2 (2001), pp. 277- 284. NOVAK, J. – Aprender, criar e utilizar o conhecimento: mapas conceptuais como ferramentas de facilitação nas escolas e empresas. Lisboa: Plátano, 2000. RUBINGTON, E.; WEINBERG, M.S. – The study of social problems: seven perspectives. New York/Oxford: Oxford University Press, 1995. STRENGER, C. – O medo da insignificância: como dar sentido às nossas vidas no século XXI. Alfragide: Lua de Papel, 2012. TOFFLER, A. – Choque do futuro. Lisboa: Livros do Brasil, 1970. TOFFLER, A. – A terceira vaga. Lisboa: Livros do Brasil, 1980. TOFFLER, A. – Os novos poderes. Lisboa: Livros do Brasil, 1991.
67
Untitled-10 67
28/08/15 11:42
| FAMÍLIAS |
AS EQUIPAS DE APOIO A SITUAÇÕES 1.ª VEZ E AS ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS
VIAGEM PARA UM NOVO PARADIGMA Texto de Rita Ferreira Costa1, Simone Cristo1, Sofia Júdice1, Dulce Sentieiro2, Leila Fortes2, Vanda Trindade2, Cláudia Silva3, Daniela Vieira3, Patrícia Subtil3, Inês Vinha4 e Fátima Gaspar4 [1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO DE PROXIMIDADE (UDIP) ALAMEDA, 2. UDIP COLINAS, 3. UDIP LUZ, 4. UDIP ORIENTE_SCML]
68
Untitled-11 68
28/08/15 11:43
| SOCIAL |
No âmbito da requalificação do Acolhimento Social, a Misericórdia de Lisboa tem vindo a investir num novo paradigma de intervenção, assente numa matriz interdisciplinar. Assim, foram criadas as Equipas de Apoio a Situações de 1.ª vez, baseadas num modelo de gestão de caso e nas abordagens colaborativas. ENQUADRAMENTO o contexto da responsabilidade da ação social na cidade e com o objetivo de responder aos desafios e complexidade da atualidade, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) definiu novas estratégias de atuação e (re)qualificação do Acolhimento Social. A reorganização dos serviços de proximidade em unidades territoriais – Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP1) – constitui-se como uma das primeiras etapas de um processo que visa reposicionar, em termos paradigmáticos, no século xxi, a intervenção e resposta às populações mais vulneráveis, em particular àquelas que, pela primeira vez, necessitam de recorrer a apoios formais no âmbito da ação social. Sendo a (re)qualificação do Acolhimento Social um objetivo estratégico da SCML no que respeita à ação social, a montante desta reorganização, iniciou-se um processo de avaliação participada a diferentes níveis, que procurou aprofundar a caraterização dos serviços e modelo de atendimento, com o intuito de identificar potencialidades e oportunidades conducentes à adoção de um novo modelo que promovesse também uma maior otimização dos recursos existentes e eficácia da intervenção. Os resultados desta avaliação/diagnóstico remeteram, assim, para a necessidade de mudança de
N
paradigma ao nível da intervenção. Este novo modelo assenta numa matriz de intervenção interdisciplinar, fortemente inspirada nas abordagens colaborativas e participativas. Todavia, a magnitude e amplitude deste processo de mudança implicou que fossem tomadas opções estratégicas no planeamento e na implementação. Para ser aferida a eficácia do novo modelo entendeu-se que seria ajustado apostar na criação de uma resposta direcionada para os públicos que nunca tivessem tido contacto com os serviços da SCML e, consequentemente, experiências anteriores de intervenção. É neste contexto que são criadas as dez Equipas de Apoio a Situações de 1.ª vez (EAS1.ªvez), uma por UDIP, enquadrando-se a sua constituição no objetivo estratégico n.º 9 do “Planeamento Estratégico da Ação Social 2013-2015”, referente à “Reorganização do Atendimento Social”. A sua atividade iniciou-se em abril de 2014, sendo que o seu funcionamento e resultados serão avaliados decorrido um ano de trabalho (abril 2015). Numa perspetiva mais ampla e global, pretende-se avaliar a eficácia deste novo modelo e os seus impactes na qualidade da resposta aos utentes, aferindo a possibilidade de disseminação às restantes equipas. A emergência das EAS1.ªvez sustentou-se, em primeira linha, no envolvimento e participação
1. UDIP Tejo, UDIP Descobertas, UDIP Avenidas, UDIP Luz, UDIP Alta de Lisboa, UDIP Colinas, UDIP Alameda, UDIP Madredeus, UDIP Marvila e UDIP Oriente.
69
Untitled-11 69
28/08/15 11:43
| FAMÍLIAS |
efetiva dos profissionais na construção deste projeto, numa lógica de investigação-ação e como estratégia de apropriação e promoção do modelo. Outros pilares determinantes foram a formação inicial prévia ao início da atividade, a definição de programa de supervisão externa e a formação contínua, à medida das necessidades identificadas, bem como a disponibilização de alguns meios/recursos facilitadores do trabalho dos profissionais (por exemplo, telemóveis de serviço). A promoção de um modelo e de uma estrutura comuns e a avaliação e monitorização da atividade são, ainda, asseguradas por uma coordenação transversal que visa garantir/assegurar a unidade da ação nas dez UDIP. Numa primeira parte, o presente artigo pretende apresentar a experiência das EAS1.ªvez, os princípios norteadores deste modelo e os principais desafios e resultados obtidos nos primeiros nove meses de implementação. Por fim, apresenta o testemunho dos profissionais, a sua visão da “viagem para um novo paradigma”. I. A EXPERIÊNCIA A complexidade dos problemas sociais conduziu à necessidade de reajustar a forma de olhar para as famílias vulneráveis que procuram ajuda profissional. Este facto conduz à reformulação do papel do interventor social, dos serviços e respostas de apoio, e consequentemente, do papel das famílias no seu próprio processo de intervenção. Podemos afirmar que a (re)qualificação do Acolhimento Social da SCML está a atravessar “um momento entre paradigmas” (ANDOLFI, 2000) na forma de olhar para as famílias que procuram ajuda e, consequentemente, na forma de as apoiar. A mudança no Acolhimento Social, no que respeita às EAS1ªvez faz-se a partir das abordagens centradas nas soluções e competências, ao invés das abordagens centradas nos problemas. ABORDAGENS CENTRADAS NOS PROBLEMAS As abordagens tradicionais, assentes nos modelos biomédicos e centradas nos problemas, estão ainda fortemente enraizadas nas práticas dos serviços de
acção social. Nesta perspetiva, os profissionais são especialistas e as famílias cumprem as prescrições destes para encontrar as soluções. A intervenção é realizada a partir de um diagnóstico aprofundado, que realiza uma radiografia dos problemas, défices e/ou insuficiências das famílias para os quais os diferentes especialistas procuram soluções. Quando aplicado à intervenção junto de famílias com múltiplos problemas (e.g., ao nível da habitação, saúde, relações familiares, entre outros) frequentemente implica o envolvimento de diferentes especialistas, que intervêm geralmente de forma fragmentada e descoordenada (SOUSA, 2004). As intervenções tendem a acumular-se, criando stress adicional na vida das famílias, sem que isso seja sinónimo de uma mudança significativa da sua qualidade de vida. Gera-se, então, um conjunto de efeitos secundários indesejáveis: fragmentação e descontextualização que segregam e afastam os vários elementos da família (ELIZUR; MINUCHIN, 1989); diluição do processo familiar nos sistemas de apoio formal (COLAPINTO, 1995; IMBER-BLACK, 1988); e incapacitação e repressão dos sujeitos/famílias (BOYD-FRANKLIN, 1989). A melhoria e qualidade da resposta ao nível da ação social, nesta fase de transição entre paradigmas, beneficiarão com o desenvolvimento e disseminação das abordagens colaborativas que reúnem contributos teórico-práticos da era pós-moderna, tais como o construtivismo e construcionismo social, teorias do empowerment, resiliência, a abordagem centrada nas competências e terapias centradas nas soluções. ABORDAGENS COLABORATIVAS As abordagens colaborativas inspiram-se nas práticas centradas nas competências e nas soluções. Estão assentes na co-expertise e coconstrução de caminhos de mudança entre profissionais e famílias. O profissional assume uma postura não hierárquica e não confrontacional, com grande enfoque na colaboração e associação entre este e as famílias (MADSEN, 2007; MONK; GEHART, 2003). Os objetivos da intervenção são definidos em conjunto pelo profissional e família, centrados no pedido desta última.
70
Untitled-11 70
28/08/15 11:43
| SOCIAL |
Nestas abordagens, as famílias são expert na sua história e no que desejam para si. A expertise do profissional está na condução do processo de ajuda e na sua capacidade de fazer perguntas interessantes e geradoras de experiência. Deve adotar uma postura de surpresa e curiosidade perante a informação que lhe é facultada (not-knowing) e não procurar recolher informação para encaixar num determinado padrão (rotular) (ANDERSON, 1997). Estas abordagens têm vindo a demonstrar ser mais eficazes na intervenção social junto dos públicos mais vulneráveis (SOUSA; RODRIGUES, 2012) dada a criação de uma atmosfera colaborativa de trabalho e o forte envolvimento das pessoas nos processos de ajuda que lhes dizem respeito.
seu potencial; e de facilitação do acesso aos recursos in/formais que respondam às necessidades identificadas. O GC incentiva as famílias para a mudança, apoiando-as na procura de alternativas para os seus problemas, a partir da ativação e uso das suas competências e/ou recursos internos e ambientais (SOUSA; RODRIGUES, 2012). AS EAS1.ªVEZ Em fevereiro de 2014 começa a formação inicial para todos os profissionais que aceitaram este desafio. A implementação deste novo modelo sustentou-se não só no envolvimento dos profissionais, como numa metodologia de investigação-ação, assente num plano de formação contínua, bem como de supervisão externa. Na fase de implementação, aten-
A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA ESTÁ A DESENVOLVER UM PROCESSO QUE VISA REPOSICIONAR, EM TERMOS PARADIGMÁTICOS, NO SÉCULO XXI, A INTERVENÇÃO E RESPOSTA ÀS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS O GESTOR DE CASO COLABORATIVO NA INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS VULNERÁVEIS Na intervenção social com famílias vulneráveis, a definição de um gestor de caso (GC) assume um papel central, dado que, perante as múltiplas necessidades, é indispensável orquestrar uma ampla gama de apoios, profissionais e/ou serviços. É o GC que avalia, desenvolve e coordena a intervenção junto da família e garante o fio condutor da intervenção. O GC coordena a intervenção e – em colaboração com a família, com outros profissionais e com a rede – é responsável por desenvolver, implementar e monitorizar o plano de ação. Este papel implica que o GC assuma uma dupla vertente: de suporte direto, na medida em que está centrado na concretização dos objetivos definidos no plano de intervenção para que a família possa atingir o
dendo às exigências de um processo de mudança, foi importante assegurar a harmonização das condições de partida das várias equipas. Os principais agentes da mudança – e quem, na prática, a iria executar – seriam os profissionais. Por isso, e desde o primeiro momento, foram eles os grandes construtores dos documentos que orientaram estes primeiros meses de intervenção. Perante a importância deste processo para a elaboração do referencial, entendeu-se que a participação dos profissionais, enquadrada por uma coordenação transversal, envolvendo-os na construção, potenciaria a motivação, o compromisso e a compreensão dos objetivos, contribuindo, em paralelo, para a emergência de uma identidade profissional comum, minimizando-se o risco de plasticidade da mudança e de pulverização das opções estratégicas. 71
Untitled-11 71
28/08/15 11:43
| FAMÍLIAS |
Assim, a partir de março constituiu-se uma task force, envolvendo os profissionais das dez equipas, tendo sido realizados diversos momentos de trabalho para reflexão e construção do referencial metodológico. As EAS1.ªvez apresentam uma matriz interdisciplinar de Serviço Social e Psicologia fortemente inspirada nas abordagens colaborativas e participativas – assentes na co-expertise e na coconstrução de caminhos de mudança/soluções entre profissionais e famílias. Através de uma metodologia de gestão de caso, estas equipas estão vocacionadas para responder às necessidades e potencialidades das famílias em situação de vulnerabilidade, a partir do desenvolvimento de estratégias flexíveis de comunicação (centradas nas competências/forças) e da coordenação e otimização dos recursos in/formais disponíveis (trabalho em rede). Estão orientadas para o acompanhamento de famílias que recorrem pela primeira vez ao apoio formal, na sequência de uma emergência ou do agravamento das suas condições de vida. As famílias que
necessidades e desejos. A partir da identificação e amplificação das forças e competências das famílias, as EAS1.ªvez procuram ajudar na construção de soluções para ultrapassar os problemas e melhorar a sua qualidade de vida. Desenvolvem o acompanhamento familiar, tendencialmente em contexto natural de vida, potenciador dos seus recursos e forças, ultrapassando intervenções condicionadas ao setting institucional (gabinete). O PAPEL DO GESTOR DE CASO NAS EAS1.ªVEZ O GC deve planear a intervenção, tendo em conta a situação e as competências da família, apoiando-a na definição de prioridades face às necessidades identificadas. A partir da avaliação inicial é realizado um plano de ação que contempla o registo escrito de ações/tarefas a realizar no âmbito dos objetivos definidos. Este plano é elaborado em conjunto com a família e cuidadosamente redigido numa linguagem acessível à mesma, de forma a facilitar a sua concretização. O plano identifica e envolve todos os agentes
AS ABORDAGENS COLABORATIVAS TÊM VINDO A DEMONSTRAR SER MAIS EFICAZES NA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DOS PÚBLICOS MAIS VULNERÁVEIS chegam aos serviços apresentam uma incapacidade total ou parcial para responder às suas necessidades. A atual conjuntura económica colocou muitas famílias em situação de vulnerabilidade e desproteção. Outras, apesar de as dificuldades não serem novas, viram as suas condições de vida agravadas na sequência da emergência de problemas de saúde graves, desemprego ou rutura familiar. Trata-se de famílias que recorrem aos serviços numa situação de elevada fragilidade emocional e económica com dificuldades em se organizarem sem ajuda profissional. As EAS1.ªvez pretendem desenvolver uma intervenção marcada por um acompanhamento regular e próximo das famílias, centrado num plano de ação individualizado que respeite as suas caraterísticas,
significativos da rede de suporte formal e informal de acordo com as necessidades de cada família. Só o trabalho concertado entre os diversos intervenientes permite dar uma resposta mais ajustada às múltiplas necessidades das famílias, ampliando os resultados que se obteriam trabalhando isoladamente. Na fase de implementação do plano de ação, o GC apoia as famílias, bem como os demais profissionais ou elementos da rede informal no cumprimento das ações assumidas. É responsável por informar/educar as famílias acerca do funcionamento dos serviços e sistemas de apoio, podendo, caso se justifique, ser seu representante, como forma de garantir a superação das barreiras que estejam a impedir o acesso aos serviços.
72
Untitled-11 72
28/08/15 11:43
| SOCIAL |
As EAS1.ªvez são constituídas por três profissionais (dois assistentes sociais e um psicólogo) que podem desempenhar a função de GC. Contudo, a intervenção é planeada e realizada em equipa. O GC é atribuído durante a admissão da família nas EAS1.ªvez, podendo posteriormente ser alterado, de acordo com as necessidades desta e o parecer dos profissionais.
para que a família compreenda o que ficou acordado e coopere ativamente no seu processo; • tempo para estar com as famílias: é necessário que o processo de intervenção possa ser prolongado no tempo, pois as famílias vulneráveis apresentam múltiplas necessidades que carecem da ativação de diversas respostas e/ou serviços orquestrados no tempo;
AS EQUIPAS PRETENDEM DESENVOLVER UMA INTERVENÇÃO MARCADA POR UM ACOMPANHAMENTO REGULAR E PRÓXIMO DAS FAMÍLIAS, CENTRADO NUM PLANO DE AÇÃO INDIVIDUALIZADO QUE RESPEITE AS SUAS CARATERÍSTICAS, NECESSIDADES E DESEJOS
As EAS1.ªvez inspiram-se num conjunto de princípios e linhas orientadoras recomendadas pela literatura para elevar a eficácia da intervenção junto de famílias muito vulneráveis, sendo de destacar (SOUSA; RODRIGUES, 2012): • flexibilidade: procura-se a manutenção de um acompanhamento próximo, através de contactos frequentes com a família, para suportar as mudanças desejadas. O GC deve ter em consideração a história de cada família na relação com os serviços, algumas vezes caraterizada como de desconfiança, hostilidade, resistência e de indiferença; • proximidade e intervenção no território das famílias: constitui-se como uma estratégia fundamental, visto que as famílias em setting institucional (gabinete) podem sentir dificuldades em conversar sobre as suas vivências e circunstâncias diárias de vida. Nestas situações, a presença do profissional no seu meio natural pode potenciar a observação de necessidades e recursos não percecionados anteriormente pela família. A relação tende a tornar-se mais próxima e as ações aí realizadas mais facilmente apreendidas; • informalidade: a utilização de uma linguagem acessível facilita a comunicação, sendo essencial
• ajuda material e concreta: quando as famílias vivem contextos de incerteza em relação à sua própria subsistência, é fundamental apoiá-las na resposta às necessidades básicas, auxiliando-as no desenvolvimento de estratégias com vista ao fortalecimento das suas competências e, sempre que possível, da sua autonomia. A par da intervenção direta com as famílias, as EAS1.ªvez beneficiam de ferramentas de trabalho que permitem uma análise reflexiva e crítica sobre as situações em acompanhamento. A supervisão externa e regular constitui-se como uma estratégia de sucesso no trabalho realizado no terreno.
RESULTADOS Atividade das EAS1.ªvez – Dados de abril a dezembro de 2014
Nº de casos/ situações atendidas 1315
Nº de processos constituídos Nº de processos encerrados
2216 148
73
Untitled-11 73
28/08/15 11:43
| FAMÍLIAS |
Do mesmo modo, a formação contínua e adaptada às necessidades dos GC, enquanto reforço das competências técnicas, é uma mais-valia para a prática profissional numa área sujeita a um elevado desgaste profissional. Em 2014, as equipas atenderam um total de 2216 situações, das quais 1315 deram origem à constituição de processo, o que representa 59% do total. Foram ainda encerrados 148 casos/processos. II. O TESTEMUNHO Em janeiro de 2014 fomos desafiadas para uma viagem inesperada, com destino desconhecido. O primeiro pensamento foi: “Agora? Agora não dá jeito nenhum, estamos aqui tão bem... Porque é que nos estão a convidar para esta viagem?”. Sabíamos que podia ser desafiante, mas as dúvidas eram muitas. “Vamos? Não vamos? Não sabemos o destino nem se queremos ir...”. Não sabíamos o que levar na mala, mas decidimos arriscar. (início das equipas – medo da mudança e desafio vs acomodação)
Apesar das angústias, em fevereiro dirigimo-nos para a estação, com vontade de iniciar a viagem. Na mala levávamos um mapa com as coordenadas essenciais, perspetivas positivas, boa disposição e muita, muita curiosidade. (formação em gestão de casos – abordagem colaborativa)
Em março, na estação, enquanto nos conhecíamos melhor, partilhávamos o que cada uma trazia na bagagem: conhecimento, experiência, otimismo, ambivalência, expectativa, apreensão e algum medo do desconhecido. Ouvimos os altifalantes: “Bom dia a todas, sejam bem-vindas. Façam favor de entrar. Esperamos que façam uma ótima viagem. Estaremos sempre ao vosso lado neste percurso.” (coordenação transversal – orientação)
Entrámos no comboio e percebemos que existiam dez carruagens (dez equipas), devidamente apetrechadas com os recursos necessários para circular. Mas, quando nos sentámos, o comboio não andava. Não havia locomotiva. O que fazer? Foi aí que percebemos que era nossa responsabilidade pôr o comboio a andar. (construção do referencial de procedimentos das EAS1.ªvez)
Pouco a pouco, fomos unindo esforços, de forma a construir uma locomotiva e estabelecer a ligação entre as carruagens (trabalho de grupo e subgrupos). Finalmente, em abril, partimos, ansiosas pela aventura de uma nova experiência. (criatividade e flexibilidade)
Cada carruagem transporta três tripulantes para um melhor acolhimento dos passageiros. Et voilà! À medida que o comboio avança, os passageiros vão entrando e pedindo ajuda, por vezes confusos, com dúvidas sobre qual o melhor caminho. Estabelece-se o primeiro contacto e a relação entre a tripulação e os passageiros inicia-se. Convidamo-los a sentar e tentamos perceber o que os levou a entrar no comboio. Procuramos saber de onde vêm, quem são, para onde pretendem ir e como os podemos ajudar a chegar ao seu destino. Alguns passageiros saem logo na paragem seguinte, determinados a seguir o seu percurso, com confiança para o fazer de forma autónoma. Outros fazem percursos mais longos, pois necessitam de reorganizar a bagagem e de traçar um novo destino. (abordagem colaborativa, centrada nas competências e nas forças)
Às vezes, entram no comboio tripulantes de outras companhias, vestidos de forma diferente, conhecedores desta viagem. Estes tripulantes, alguns com mais experiência, contribuem e, por
74
Untitled-11 74
28/08/15 11:43
| SOCIAL |
vezes, são fundamentais para construir pontes, percursos de viagem… mudança. (articulação com parceiros – trabalho em rede)
Durante a viagem, percebemos a mais-valia de viajar em grupo. Sempre que precisamos, temos ao nosso lado alguém com quem partilhar momentos bons e menos bons da viagem, assim como planear os passos seguintes do nosso caminho. (interdisciplinaridade)
Antes de chegarmos a uma bifurcação, contactamos a central para nos informarmos da linha disponível, de forma a tornar a viagem menos sinuosa. (reunião de discussão de casos)
Esta viagem tem sido uma verdadeira descoberta para toda a nossa tripulação, para os outros tripulantes/parceiros e para os passageiros (maior satisfação). Apesar de termos percorrido um longo caminho, as expectativas são elevadas, pois existem ainda muitos destinos por conhecer, alcançar e consolidar. (inovação – novo paradigma)
BIBLIOGRAFIA ANDERSON, Harlene – Conversation, language and possibilities: A postmodern approach to therapy. New York: Basic Books, 1997. ANDOLFI, Maurizio – El coloquio relacional. Barcelona: Pai-
Uma ajuda preciosa é a do revisor, um profissional muito experiente, que já andou em diversos comboios, já percorreu inúmeras rotas e tem estado sempre ao nosso lado, tornando tudo mais fácil. Nos momentos de maior cansaço e desânimo, ajuda-nos a ver a luz ao fundo do túnel. (formação contínua e supervisão externa)
dós, 2000. BOYD-FRANKLIN, Nancy – Black families in therapy: a multisystems approach. New York: Guilford Press, 1989. COLAPINTO, Jorge – Dilution of family process in social services: implications for treatment of neglectful families. Family Process. Vol. 34, n.º 1 (1995), pp. 59-74. ELIZUR, Joel; MINUCHIN, Salvador – Institutionalizing madness: families, therapy and society. New York: Basic Books, 1989.
Numa linha paralela à nossa, temos a companhia de um comboio mais antigo e experiente neste percurso. Circula a alta velocidade e, frequentemente, não tem possibilidade de parar o tempo suficiente em todas as estações (atendimento generalista). Por vezes, os eixos que unem as carruagens precisam de alguns ajustes. O nosso comboio tem percorrido diferentes linhas (criatividade e flexibilidade nas respostas, respostas individualizadas), rumo a novos destinos, e tem ajudado o outro comboio a ajustar a velocidade. Nesta experiência, que tem sido muito desafiante, temos tido a oportunidade de conhecer diferentes paisagens, diferentes locais e diferentes culturas. (novos públicos)
IMBER-BLACK, Evan – Families and larger systems. New York: The Guilford Press, 1988. MADSEN, William C. – Collaborative therapy with multi-stressed families. New York: The Guilford Press, 2007. MONK, Gerald; GEHART, Diane R. – Conversational partner or socio-political activist: distinguishing the position of the therapist in collaborative and narrative therapies. Family Process. Vol. 42, n.º 1 (2003), pp. 19-30. SOUSA, Liliana – Diagnósticos e problemas: uma perspetiva sistémica centrada nas famílias multiproblemáticas pobres. Psychologica. Vol. 37 (2004), pp. 147-167. [Consult. 14 novembro 2014]. Disponível em http://koha.ulusiada.pt/ cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162337. SOUSA, Liliana; RODRIGUES, Sofia – The collaborative professional: towards empowering vulnerable families. Journal of Social Work Practice. Vol. 26, n.º 4 (2012), pp. 411-425.
75
Untitled-11 75
28/08/15 11:43
| ENVELHECIMENTO |
AS EQUIPAS DE APOIO A IDOSOS
NOVOS DESAFIOS, NOVOS MODELOS DE INTERVENÇÃO O trabalho interdisciplinar das equipas de apoio a idosos da Misericórdia de Lisboa, operacionalizado através de uma intervenção colaborativa, tem-se revelado fulcral para o sucesso desta resposta social. O caso de António Silva é paradigmático da eficácia de uma estratégia de atuação concertada. Texto de Lúcia César1, Sandra Alegre2, Ana Fradique1, Mariana Mexia de Almeida2, Vânia Prates Afonso3 e Rita Tavares4 [1. ASSISTENTE SOCIAL, 2. PSICÓLOGA, 3. TERAPEUTA OCUPACIONAL, TÉCNICAS DAS EQUIPAS DE APOIO A IDOSOS ORIENTE E ALTA DE LISBOA_SCML, 4. ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADORA DAS EQUIPAS DE APOIO A IDOSOS_SCML]
A
situação demográfica na cidade de Lisboa, o seu contexto social e a sua própria dispersão geográfica são fatores que contribuem para uma maior vulnerabilidade da situação dos idosos, exigindo por parte da rede social formal uma progressiva diversificação e qualificação das respostas sociais. Para que as respostas sociais de proximidade respondam qualitativamente às situações das pessoas, com idade igual ou superior a 65 anos, particularmente às que se encontram isoladas, sós e socialmente vulneráveis, é necessário inovar, para que todas possam envelhecer com segurança e dignidade.
Esta demanda implica um trabalho colaborativo entre todos os intervenientes, incluindo as próprias pessoas, famílias e comunidades, no quadro dos diferentes papéis e responsabilidades, mobilizando múltiplas competências, de acordo com o papel a desempenhar na preparação dos processos diferenciados de envelhecimento. Em junho de 2013, as equipas de apoio a idosos (EAI) – equipas de base interdisciplinar em funcionamento desde 2006 – de acordo com a avaliação que envolveu os profissionais destas equipas, foi proposta revisão do modelo e ampliação do âmbito de intervenção, por forma a garantir
76
076-081.indd 76
28/08/15 11:44
| SOCIAL |
ÁREAS de intervenção Equipas de Apoio a Idosos: EAI I – UDIP Descobertas /UDIP Tejo EAI II – UDIP Luz / UDIP Alta de Lisboa EAI III – UDIP Marvila / UDIP Oriente / UDIP Madredeus EAI IV – UDIP Alameda / UDIP Avenidas EAI V – UDIP Colinas
uma resposta célere e atempada, um acompanhamento personalizado e trabalho de rede/parceria que melhorasse a qualidade de vida das pessoas idosas isoladas e em situação de vulnerabilidade. Na sequência desta alteração, os profissionais das EAI tiveram formação inicial em metodologias de gestão de caso segundo as abordagens colaborativas e têm, desde então, participado no programa de supervisão externa e formação contínua à medida das necessidades identificadas. As atuais cinco EAI respondem por área geográfica das Unidades de Desenvolvimento a que estão referenciadas e estão orientadas para acolher, atender e acompanhar cidadãos com 65 e mais anos, em situação de isolamento e de grande vulnerabilidade social.
A estratégia de intervenção das EAI assenta no modelo colaborativo de gestão de caso. Estas equipas são constituídas por profissionais de três áreas: serviço social, psicologia e terapia ocupacional. Estas valências complementam-se para responder interdisciplinarmente à pessoa, analisando necessidades, potencialidades, recursos e desejos, numa forte interligação com o seu contexto natural de vida. Nas EAI qualquer um dos profissionais assume o papel de gestor de caso, sendo a análise/ avaliação e planeamento da intervenção realizada em equipa. A figura do gestor de caso é fundamental na intervenção junto deste público que, quando chega a estas equipas, se encontra numa situação de grande vulnerabilidade social, apresentando 77
076-081.indd 77
28/08/15 11:44
| ENVELHECIMENTO |
diversos tipos de fragilidades: funcional, emocional e psicológica. É o gestor de caso quem vai avaliar, desenvolver e implementar os planos de ação em conjunto com a pessoa idosa, sendo um elemento de referência junto desta. Esta nova abordagem pretende distinguir-se dos modelos mais clássicos de intervenção social. Incorpora princípios e estratégias das abordagens colaborativas e centradas nas competências e soluções, para requalificar a sua prática e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas populações.
FOI PROPOSTA REVISÃO DO MODELO E AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DE INTERVENÇÃO DAS EQUIPAS DE APOIO A IDOSOS, DE MANEIRA A GARANTIR UMA RESPOSTA CÉLERE E ATEMPADA, UM ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO E UM TRABALHO DE REDE/PARCERIA” Resumindo, as principais caraterísticas destas equipas são: • a interdisciplinaridade; • a atribuição de um gestor de caso; • um grande enfoque na relação. O atual modelo de funcionamento das EAI consubstancia-se numa intervenção de proximidade e uma maior capacidade e qualidade da resposta, quer pela abordagem colaborativa – assente no trabalho de equipa interdisciplinar e no acompanhamento personalizado – quer pelo trabalho em parceria. AS PARCERIAS E AS ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS Nesta fase de mudança de paradigma e introdução de novas metodologias de intervenção, as EAI têm vindo a desenvolver o seu trabalho
– quer com os utentes quer com os parceiros – tendo por base a procura de soluções centradas na relação de confiança e pressupondo uma gestão territorial partilhada e integrada. Isso exige disponibilidade e respeito profissional. Estamos perante novas metodologias de intervenção, sendo necessário conjugar esforços para um trabalho em rede, em que se potenciem espaços de participação e interação conjuntos entre os diferentes atores que intervêm com públicos vulneráveis. É imprescindível treinar a nossa intervenção/trabalho social de acordo com uma abordagem centrada não nos problemas, mas sim nas soluções, investindo nas capacidades e competências de todos os atores que fazem parte desta rede. O trabalho com os parceiros exige muito de todos os intervenientes, pois, acima de tudo, as parcerias têm de ser identificadas localmente para se constituírem pontes de cooperação e colaboração efetivas. Importa referir que, em alguns territórios, estão já identificados parceiros efetivos com os quais as EAI articulam diariamente, numa lógica de trabalho partilhado e integrado. É o caso da Polícia de Segurança Pública (PSP), centros de saúde, juntas de freguesia e algumas instituições particulares de solidariedade social (IPSS). Qualquer mudança é um processo complexo, mas extremamente motivador, que acabará por ter implicações num sistema mais alargado. As mudanças devem ser cimentadas cuidadosamente, por forma a criar alicerces fortes que as suportem. Quando a intervenção é desenvolvida em rede, esta metamorfose não envolve apenas um interventor social, mas sim todos os parceiros intervenientes, que conjugam contributos e sustentam este trabalho, revelando claros sinais de criatividade e vitalidade. O caso que a seguir se apresenta é ilustrativo do sucesso que se pode conseguir com uma intervenção corretamente delineada e concertada pelos vários intervenientes na ação. Pretende-se dar ênfase a uma prática – na sequência do exposto anteriormente – no que diz respeito à
78
076-081.indd 78
28/08/15 11:44
| SOCIAL |
operacionalização de uma intervenção colaborativa e à importância da interdisciplinaridade na intervenção com este público. Por tudo isto, este é um caso com contornos quase paradigmáticos. Importa referir que os nomes apresentados são fictícios por forma a preservar o dever de sigilo e confidencialidade. A situação de António Silva, de 75 anos de idade, é sinalizada pela PSP no contexto de uma reunião de parceiros numa das freguesias de Lisboa com PSP/Policiamento de Proximidade, Centro de Saúde e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Equipa de Apoio a Idosos. Foi relatado que o idoso vivia em habitação própria, em condições de higiene muito deficitárias, sem água, luz e gás, com défices de memória e alguns problemas de saúde, perdendo constantemente o seu documento de identificação, o que o deixava sem acesso à pensão de rendimentos. António Silva recusava apoio institucional – designadamente centro de dia e/ou serviço de apoio domiciliário – e acompanhamento médico. Na sequência da referida reunião de parceiros foi feita uma visita domiciliária conjunta entre a EAI, PSP, delegada de Saúde Pública e assistente social do Centro de Saúde. Verificou-se que a habitação se encontrava em estado de insalubridade, com acumulação de lixo, desorganizada e sem água, luz e gás. O idoso apresentava-se descuidado, com roupa suja e higiene pessoal deficitária. António Silva identificou como seu único problema o facto de não estar na posse do documento de identificação, o que o impedia de levantar a pensão de rendimentos. Foi sensibilizado para a importância de marcação de uma consulta médica no Centro de Saúde, tendo recusado qualquer diligência neste sentido. Ficou acordado com o idoso que o Centro de Dia iria disponibilizar uma ajudante familiar para o acompanhar à Loja do Cidadão, para solicitar a segunda via do cartão de cidadão, assim como para regularizar os pagamentos da água, luz e gás, por forma a reativar os serviços. O Centro de Saúde ficou responsável por efetuar uma marcação de consulta da especialidade
72
77
de neurologia no hospital da área de residência. A EAI agendou uma visita domiciliária com as entidades presentes na reunião. Na sequência da informação prestada pela ajudante familiar que acompanhou o idoso, um ex-patrão e amigo de António Silva era proprietário de uma loja de eletrodomésticos, situada na rua da habitação do idoso. O gestor de caso deslocou-se à loja e percebeu que o proprietário – o senhor Ferreira – se prontificava para prestar
GENOGRAMA António Silva
AS PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS DAS EQUIPAS SÃO A INTERDISCIPLINARIDADE, A ATRIBUIÇÃO DE UM GESTOR DE CASO E UM GRANDE ENFOQUE NA RELAÇÃO” apoio na gestão financeira da pensão de António Silva, mostrando-se ainda disponível para outras diligências, caso o idoso concordasse. Foi agendado um atendimento no Centro de Saúde com António Silva, o senhor Ferreira e as entidades intervenientes – PSP, Centro de Dia, assistente social e médico de família (de recurso) do Centro de Saúde e a EAI – com o objetivo de definição do plano de intervenção. António Silva manteve-se totalmente alheado do conteúdo da conversa, com tentativas de fuga, apresentando-se desorientado em termos temporais e 79
076-081.indd 79
28/08/15 11:44
| ENVELHECIMENTO |
MAPA DE REDE –António Silva
FAMÍLIA
AMIZADE
Manuel
Sr. Ferreira
A EAI
PSP
Lar
Centro de Saúde
Centro de Dia
Restaurante Casa de Saúde RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
EM ALGUNS TERRITÓRIOS ESTÃO JÁ IDENTIFICADOS PARCEIROS EFETIVOS COM OS QUAIS AS EQUIPAS DE APOIO A IDOSOS ARTICULAM DIARIAMENTE, NUMA LÓGICA DE TRABALHO PARTILHADO E INTEGRADO”
RELAÇÕES DE TRABALHO OU ESTUDO
espaciais. Referiu a existência de um irmão, chamado Manuel, e, apesar de afirmar não ter contacto com o mesmo há vários anos, foi capaz de fornecer o seu nome completo. O médico de família aconselhou algumas estratégias para lidar com o idoso até que este fosse à consulta de neurologia. No final do atendimento, ficou definido que o senhor Ferreira iria ficar na posse do cartão de cidadão do idoso e continuaria a fazer a gestão financeira dos rendimentos deste. A ajudante familiar iria, mensalmente, com o idoso levantar a pensão de rendimentos, que seria depois entregue ao senhor Ferreira.
80
076-081.indd 80
28/08/15 11:44
| SOCIAL |
Este iria ainda tentar que um restaurante próximo da residência de António Silva confecionasse o almoço, para ser depois entregue ao domicílio pelo senhor Ferreira. A ajudante familiar passaria todos os dias em casa do senhor, para confirmar que este almoçava. A PSP conseguiu localizar o irmão de António Silva através da morada fornecida pela EAI. Realizou-se nova reunião no Centro de Saúde com as entidades envolvidas e com o irmão (sem a presença do idoso). Foi explicada a situação ao senhor Manuel, tendo o mesmo referido não ter contacto com o irmão desde o falecimento do pai de ambos, há cerca de ano e meio. Mostrou-se preocupado e totalmente disponível para apoiar no que fosse necessário. Foi referida a possibilidade de este dar início ao processo de interdição de António Silva, tendo-lhe sido explicados os procedimentos e quais os documentos a entregar. No dia da consulta de neurologia, a EAI e a PSP deslocaram-se ao domicílio do idoso, para garantir que este iria à consulta, acompanhado pelo irmão, o senhor Manuel, e pelo amigo, o senhor Ferreira. A EAI elaborou uma informação social para ser entregue ao médico neurologista, a contextualizar a situação e a explicar o motivo da consulta, designadamente: avaliação, prescrição de eventual medicação e informação para efeitos de processo de interdição. No âmbito da consulta, o idoso recusou efetuar as análises/exames prescritos pelo médico neurologista, bem como rejeitou a toma da medicação. Efetuou-se então uma nova reunião no Centro de Saúde, tendo ficado estabelecido que se reforçaria junto do Ministério Público, com o apoio do irmão de António Silva, o início de processo de interdição. Na sequência destas diligências, o Ministério Público nomeou o senhor Manuel como tutor provisório do idoso. A EAI articulou com a Casa de Saúde para marcação de uma consulta e eventual internamento. A EAI acompanhou António Silva e o irmão a este estabelecimento de saúde, onde o idoso acabou por ficar internado, com o objetivo
de melhoria comportamental, desabituação dos consumos de álcool, administração de medicação, cuidados de higiene e alimentação, tendo sido apoiado economicamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para suportar os custos do internamento. Foi realizada nova reunião no Centro de Saúde, para definição do período pós-alta da Casa de Saúde, pois era vontade do tutor que António Silva regressasse a casa.
ANTÓNIO SILVA ACABOU POR FICAR INTERNADO NA CASA DE SAÚDE, TENDO SIDO APOIADO ECONOMICAMENTE PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA” Os pareceres da equipa médica da Casa de Saúde, do Centro de Saúde e da equipa de apoio a idosos iam todos no sentido da recomendação de que o idoso fosse integrado num lar de idosos, onde seria acompanhado e vigiado do ponto de vista da saúde, a nível médico e de enfermagem. A PSP – em conjunto com a Junta de Freguesia – diligenciou a retirada de todo o lixo da habitação. Apesar das tentativas de melhorar a casa, concluiu-se que a mesma não reunia as condições necessárias. Para além disso, António Silva não apresentava uma situação de saúde que lhe permitisse regressar ao domicílio em segurança. À data, António Silva encontra-se integrado num lar lucrativo, bem adaptado e com comparticipação da família e da SCML.
81
076-081.indd 81
28/08/15 11:44
| SUSTENTABILIDADE |
A INOVAÇÃO MORA AQUI TÃO PERTO…
UM FUTURO PARA QUEM ENVELHECE Os Recolhimentos da Capital refletem o marco histórico de uma resposta inovadora, originária da ação estatal, recentemente sob a gestão de uma instituição secular em ação social: a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma intervenção que aposta na promoção da qualidade de vida das pessoas idosas. Texto de Inês Rodrigues1 e Maria José Relvas2 [1. ASSISTENTE SOCIAL; 2. ASSISTENTE SOCIAL, DIREÇÃO DE INTERVENÇÃO COM PÚBLICOS VULNERÁVEIS_SCML]
82
082-089.indd 82
28/08/15 11:50
| SOCIAL |
S
éculos volvidos, os Recolhimentos da Capital conservam-se fiéis ao propósito originário – acolher e apoiar pessoas idosas que, pela sua situação física, psicológica e/ ou social, se enquadram nas respostas sociais desenvolvidas, garantindo-lhes os cuidados adequados e proporcionando-lhes bem-estar e maior autonomia. Estando distribuídos por quatro freguesias da cidade de Lisboa – Arroios (Recolhimento da Encarnação), Santa Maria Maior (Recolhimentos de São Cristóvão e Merceeiras), Beato (Recolhimento do Grilo) e Penha de França (Recolhimento de Santos-o-Novo) –, os cinco Recolhimentos da Capital desenvolvem a resposta de residência assistida (em economia separada), potenciadora de uma maior autonomia, independência e participação ativa dos residentes no seu quotidiano. Esta valência, privilegiando o desenvolvimento humano e a qualidade de vida, engloba a supervisão técnica através de visitas domiciliárias regulares, sendo possível contratualizar-se – entre outros serviços e conforme as necessidades individuais de cada um – o apoio domiciliário. Assim, pretende-se a prevenção e proteção das pessoas idosas quando confrontadas com situações de perda de alguma autonomia. Para além da resposta de residência assistida, o Recolhimento da Encarnação desenvolve as respostas de lar (desde 1965), com a designação de Casa de Santo António, e de “Enfermaria da Rainha Santa Isabel”, onde permanecem pessoas com dependência, transitoriamente ou em definitivo, consoante avaliação diagnóstica.
Centrando-se a análise e reflexão nas residências assistidas dos Recolhimentos da Capital, procura-se fomentar o envelhecimento ativo e participado das pessoas idosas, garantindo a qualidade de vida e o bem-estar. Estes objetivos são assegurados através de um ambiente de suporte e de cuidado com respostas individualizadas de acolhimento e acompanhamento, pressupondo-se o apoio dos recursos da SCML, o envolvimento da família e/ou de outras pessoas de referência e das organizações parceiras (Projeto 2013-2014 Recolhimentos da Capital, 2012; WHO, 2002). PROJETO DE VIDA DO IDOSO Nem sempre são considerados os objetivos, os interesses e os projetos de vida das pessoas idosas. Neste sentido, os clichés e as designações depreciativas fazem que o cidadão comum tenha
RECOLHIMENTO da Encarnação
RECOLHIMENTO de São Cristóvão
ACOLHIMENTO RESIDENCIAL Através de uma parceria estratégica público-social que expressa uma ação inovadora e comprometida entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o Instituto da Segurança Social (ISS) – e cuja lógica se reflete no Decreto-Lei n.º 16/2011 –, os Recolhimentos da Capital encontram-se sob cedência temporária à SCML, encarregue da gestão dos equipamentos, recursos humanos e respostas sociais desenvolvidas. 83
082-089.indd 83
28/08/15 11:50
| SUSTENTABILIDADE |
atitudes discriminatórias e posturas estigmatizantes quanto ao processo de envelhecimento. Contudo, a experiência do modelo dos Recolhimentos da Capital permite-nos desmistificar, transformando este paradigma, sobretudo, em meio institucional. Embora nem sempre solucionados os diferentes constrangimentos – quer de ordem relacional quer de ordem afetiva –, o mo-
OS CINCO RECOLHIMENTOS DA CAPITAL DESENVOLVEM A RESPOSTA DE RESIDÊNCIA ASSISTIDA, POTENCIADORA DE UMA MAIOR AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA E PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS RESIDENTES NO SEU QUOTIDIANO”
delo permite, dadas as suas caraterísticas de flexibilidade, responder individualmente e de forma direcionada a cada uma das pessoas idosas nas suas residências. A designada “economia separada”, os pertences individuais e os objetos/memórias das suas vidas garantem o aumento da qualidade de vida e do bem-estar dos residentes, facto comprovado quando, por razões permanentes ou transitórias, estas pessoas têm de ser colocadas em unidades de lar/espaço para doença crónica. A este propósito lembramos uma das residentes dos recolhimentos que, ao olhar para os porta-retratos colocados na sua cómoda, referia serem “os meus familiares mortos vivos”. O reconhecimento sistemático dos objetivos do projeto de vida de cada uma das pessoas idosas faz destas estruturas residenciais lugar de vivências de continuidade. De facto, a questão mais negativa, embora não estando descurada e em constante acompanhamento técnico, é o que se designa por “vulnerabilidade” que – nas situações de perdas e sobretudo de luto – se reveste de um maior dramatismo no envelhecimento, com-
INTERIORES do Recolhimento de São Cristóvão
84
082-089.indd 84
28/08/15 11:50
| SOCIAL |
prometendo e condicionando todas as vivências que se seguem. Também o desaparecimento de familiares diretos, sobretudo de irmãos, coartam relações interpessoais e comprometem a participação mais ativa e de cidadania. As atividades de prazer e de divertimento são grandemente afetadas, apesar de, em nossa opinião, os Recolhimentos da Capital terem a modelação técnica adequada, por forma a lidar com a afetividade, minimizando os sentimentos de solidão. COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE DAS PRÁTICAS INOVADORAS A cedência dos estabelecimentos integrados no ISS e, no caso concreto, dos Recolhimentos da Capital, permitiu o reforço da função da SCML na prossecução de objetivos sociais (cf. Decreto-Lei n.º 16/2011, de 25 de janeiro).
Por outro lado, e não descurando a personalidade jurídica da Misericórdia de Lisboa – pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, regendo-se pelos seus estatutos, pelas normas que lhe sejam aplicáveis (que não contrariem os mesmos estatutos) e pela lei civil – o acordo de gestão celebrado com o ISS para dirigir os Recolhimentos da Capital possibilitou dar continuidade à aposta na qualidade e acessibilidade das respostas sociais à população, viabilizando novos caminhos ao progresso dos equipamentos sociais em parceria público-social (cf. Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de dezembro). Por esse motivo – e procurando a Misericórdia de Lisboa a melhoria contínua do bem-estar das pessoas; a promoção, apoio e realização de atividades que visem a inovação; a qualidade e a segurança na prestação de serviços e o
RECOLHIMENTO do Grilo
85
082-089.indd 85
28/08/15 11:50
| SUSTENTABILIDADE |
A CEDÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS DA CAPITAL PERMITIU O REFORÇO DA FUNÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA NA PROSSECUÇÃO DE OBJETIVOS SOCIAIS”
a promoção da inclusão social, refletiu-se sobre a possibilidade de aproveitar as oportunidades e os recursos dos equipamentos sociais de forma a tornar mais eficiente e eficaz a sua resposta em prol da missão para a qual foram criadas (ANDRÉ, ABREU; 2006). Atente-se que não se está, com a apresentação da proposta, a introduzir inovação no propósito dos Recolhimentos da Capital. Deseja-se sim que a missão dos equipamentos sociais possua maior viabilidade financeira, através de iniciativas socialmente inovadoras, para a concretização sustentável dos seus objetivos sociais – fomentar o envelhecimento ativo e participado das pessoas idosas, garantindo a qualidade de vida e o bem-estar através de um ambiente de suporte e de cuidado com respostas individualizadas de acolhimento e acompanhamento em residências assistidas e, caso necessário face a situações de maior dependência, em lar ou enfermaria. O desafio é aproveitar o potencial dos edifícios (histórico e patrimonial) e desenvolver outras respostas que, paralelamente ao proverem mais recursos financeiros para a concretização da missão, forneçam igualmente um contributo social para o quotidiano das pessoas idosas nos equipamentos sociais. Este contributo pode traduzir-se na promoção da intergeracionalidade, na participação dos indivíduos que, naturalmente, ao viverem nos recolhimentos detêm muitas experiências interessantes para contar e no estímulo à atividade física e psicológica dos mais idosos.
desenvolvimento de iniciativas no âmbito da economia social –, considerou-se que seria interessante, valorizador da parceria público-social e potenciador de reflexão para maior qualidade de vida de pessoas idosas apresentar uma proposta de modelo de sustentabilidade dos Recolhimentos da Capital. Entendendo-se a inovação social como uma resposta nova e socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, ligando simultaneamente a satisfação das necessidades humanas e
PROPOSTA DE MODELO DE SUSTENTABILIDADE A proposta de modelo de sustentabilidade pretende criar, sobretudo, valor social – maior qualidade de vida às pessoas idosas residentes nos Recolhimentos da Capital –, viabilizando também a oportunidade de outros cidadãos poderem partilhar a experiência de conhecer e estar nos equipamentos sociais, contribuindo para o envelhecimento ativo dos indivíduos que residem nos estabelecimentos. Para além da componente social da iniciativa, esta oferece também valor cultural a todos aqueles que
INTERIORES do Recolhimento do Grilo
86
082-089.indd 86
28/08/15 11:50
| SOCIAL |
se queiram comprometer com esta causa social, pessoas mais novas ou com mais idade, ao poderem observar e estar em edifícios conventuais centenários, repletos de histórias para apreender. Essencialmente, a proposta de modelo de sustentabilidade dos Recolhimentos da Capital apela à reflexão crítica, ao compromisso e ao envolvimento dos atores sociais implicados (pessoas idosas, equipa profissional dos estabelecimentos e da instituição, rede de suporte informal dos indivíduos e organizações parceiras) na criação de valor social para os próprios residentes que usufruem dos benefícios/potencialidades dos equipamentos sociais. Como André e Abreu (2006) elucidam, a inovação social pressupõe um caráter coletivo e uma intenção que gera e visa transformações nas relações sociais, sendo, por tal, fulcral o comprometimento e a capacitação dos agentes sociais para o desenvolvimento sustentável dos Recolhimentos da Capital. A proposta de sustentabilidade dos equipamentos sociais construiu-se com base na perspetiva de Osterwalder e Pigneur (2012), que definem estes modelos como instrumentos que des-
DESEJA-SE QUE RECOLHIMENTO de Santos-o-Novo A MISSÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS POSSUA MAIOR VIABILIDADE FINANCEIRA, ATRAVÉS DE INICIATIVAS SOCIALMENTE INOVADORAS, PARA A CONCRETIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS” crevem a lógica segundo a qual uma organização cria, proporciona e obtém valor. No caso concreto, e sendo a SCML a responsável pela gestão dos Recolhimentos da Capital, é consoante a orgânica da instituição e os seus recursos que se idealiza a sugestão para se criar, proporcionar e obter maior 87
082-089.indd 87
28/08/15 11:50
| SUSTENTABILIDADE |
IGREJA de Santos-o-Novo
DISPONIBILIZA-SE À COMUNIDADE ESPAÇOS, EM EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, PARA ALOJAMENTO OU EVENTOS SOCIAIS E/OU CULTURAIS COM CONTRIBUTO SOCIAL PARA OS RESIDENTES NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS”
valor social. Na proposta de modelo de sustentabilidade dos equipamentos sociais, para além das organizações parceiras referenciadas, procura-se influenciar e envolver, primordialmente, outros departamentos e direções da SCML num compromisso partilhado por todos e com um objetivo social que, pelas circunstâncias, é da responsabilidade da instituição secular em ação social. Centrando-se a intervenção nas pessoas idosas, proporciona-se a vivência em locais históricos, em economia separada, com acompanhamento personalizado e centrado na autonomia e independência de cada indivíduo, procurando-se prevenir situações de dependência e apostando-se na participação dos indivíduos no fomento ativo do seu envelhecimento, em articulação com as organizações comunitárias. Para a sustentabilidade dos Recolhimentos da Capital, como meio de obtenção de viabilidade fi-
88
082-089.indd 88
28/08/15 11:50
| SOCIAL |
nanceira e também pelo contributo social gerado, alargou-se o segmento de clientes para o turismo social e intergeracional, proporcionando-se aos cidadãos o acesso a um alojamento inovador e de qualidade em edifícios históricos e centenários, no centro de Lisboa, apoiando-se causas sociais. A comunidade é outro dos segmentos contemplado, disponibilizando-se a este público espaços, em edifícios históricos, para alojamento ou eventos sociais e/ou culturais com contributo social para os residentes nos equipamentos sociais. Com este grupo-alvo, procura-se não somente ter uma relação próxima pela oferta da proposta de valor, mas também uma ligação de parceria, de participação ativa na criação de maior qualidade de vida para as pessoas idosas residentes nos Recolhimentos da Capital. Esta conexão possibilita intergeracionalidade, partilha de experiências e conhecimentos, e apoio no fomento de valor social e cultural para todos os stakeholders (partes interessadas) envolvidos. A proposta de valor ajuda indivíduos em situação económica precária que procurem alugar uma residência a custo mais baixo, bem como proporciona a entidades públicas, privadas e de economia social a oportunidade de conhecerem e poderem alugar, por tempo determinado, espaços em edifícios históricos e centenários, estando a contribuir para a sustentabilidade do propósito dos estabelecimentos. Em suma, criou-se um modelo de sustentabilidade dos recolhimentos que, ao abranger as próprias pessoas idosas (principais interlocutores), um turismo social e intergeracional (interno e externo) e a comunidade, proporciona entre si valor para todas as partes interessadas, porque todos estão comprometidos com o fundamento social manifesto.
pessoa idosa, sendo que esta pode e deve ser um agente dinamizador, capaz de intervir e de ter uma postura proativa e participativa que lhe permita assumir o protagonismo social no que considera ser o seu bem-estar. Segunda: privilegiando o modelo de sustentabilidade apresentado no documento, é fundamental promover, aproveitar e comprometer as dinâmicas locais, estabelecendo-se parcerias, surgindo novos agentes na produção e distribuição do apoio social (como entidades públicas, privadas e de economia social), numa linha de continuidade e de cooperação, num envolvimento real e num esforço conjunto, diferente mas complementar, para intervir no verdadeiro propósito secular e inovador dos Recolhimentos da Capital – acompanhar pessoas idosas no seu envelhecimento que se pressupõe ativo, participado, intergeracional e, sobretudo, com qualidade de vida e bem-estar.
BIBLIOGRAFIA AGUIAR, José – Recolhimentos da Capital: breves apontamentos. Lisboa: Ramos Afonso & Moita, Lda., 1966. ANDRÉ, Isabel; ABREU, Alexandre – Dimensões e espaços da inovação social. Finisterra. N.º 81 (41), 2006, pp. 121-141. Decreto-Lei n.º 16/2011. Diário da República - I Série. N.º 17, de 25 de janeiro de 2011; pp. 497-501. Decreto-Lei n.º 235/2008. Diário da República - I Série. N.º 234, de 3 de dezembro de 2008; pp. 8627-8638. OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves – Criar Modelos de Negócio. Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2012. RELVAS, Maria José – Projeto 2013-2014 Recolhimentos da Capital. [Informação para despacho da diretora dos Recolhimentos da Capital ao diretor da Direção de Ação Social Local Sul]. Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 18 de outubro de 2012.
NOTA CONCLUSIVA A contínua inovação das respostas sociais desenvolvidas nos Recolhimentos da Capital centram-se em duas questões. Primeira: não esquecer que a qualidade de vida é, sobretudo, uma questão ética que inclui superiormente a perceção da
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA – Regulamento Orgânico do Departamento de Ação Social e Saúde. [Ata da 97.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2013. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – Active ageing: a policy framework. Spain: World Health Organization, 2002.
89
082-089.indd 89
28/08/15 11:50
| TERRITÓRIO |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE Texto de Luís Conceição1 e Gelson Pinto1 com a colaboração de Diogo Mateus2 [1. GABINETE DE MONITORIZAÇÃO E APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE_SCML; 2. EQUIPA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA K’CIDADE VALE DE CHELAS_SCML E FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL]
Os sistemas de informação geográfica têm vindo a conquistar espaço em diversos domínios de atividade, apoiando as instituições na definição de objetivos de intervenção, na gestão de recursos e na avaliação da atuação no terreno. Assim sucedeu na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde o uso destes sistemas aplicados à área da ação social se tem revelado importante ao nível do planeamento estratégico, do apoio à gestão estratégica e operacional e na intervenção.
90
Untitled-13 90
28/08/15 11:54
| SOCIAL |
“Todas as coisas estão relacionadas entre si, no entanto as coisas mais próximas estão mais relacionadas do que as distantes.” Waldo Tobler ESTRATÉGIA termo “estratégia” deriva do grego strategía, “comando do exército”1. Contudo, a sua aplicação há muito ultrapassou o domínio militar, sendo comum a um conjunto muito variado de atividades, com notável importância em domínios como o marketing e o desporto. Na sua aceção mais simples, estratégia não é senão o “conjunto de meios e planos para atingir um fim”2. Esta simples e genérica definição encerra em si mesma a chave para a correta articulação dos três elementos que compõem o fio condutor deste artigo – intervenção social de proximidade, estratégia e sistemas de informação geográfica (SIG) –, uma vez que evidencia a precedência da definição de objetivos (o fim) relativamente à definição da estratégia a seguir, circunscrevendo a estratégia ao planeamento da alocação dos recursos necessários ao cumprimento dos objetivos definidos. Outra aceção comum do termo “estratégia”, em particular no mundo dos negócios, prende-se com o aproveitamento de condições específicas ou circunstanciais para adoção de um posicionamento diferenciado (estratégico), considerado vantajoso, num determinado mercado ou setor de atividade. A estratégia ótima parece ser assim aquela que faz uso das oportunidades, recursos ou instrumentos singulares. Por fim, encontra-se também habitualmente associado a estratégia o tratamento daquilo que é estrutural ou de longo prazo3.
O
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA A recolha, armazenamento e análise de informação geográfica constitui o âmago da análise espacial e já existia muito antes de qualquer sistema computorizado. As técnicas de análise espacial subjacentes aos SIG têm origem em técnicas elementares de sobreposição de mapas por camadas ou temas. Em 1837, Henry Drury Harness realizou um estudo sobre a rede de transportes irlandesa, apresentado em 1838 com o título “Atlas to accompany the second report of the Irish Railway commissioners”. Para levar a cabo o estudo, o autor recorreu a um conjunto de mapas temáticos, idênticos em escala e limites, tornando possível operações mentais de sobreposição. Isso permitia aos técnicos tomar decisões sobre os melhores traçados das linhas de transportes, tendo sido provavelmente o primeiro SIG a ser usado como ferramenta de apoio à tomada de decisão (PARENT e CHURCH, 1987. Cit. por GRANCHO, 2005). Em 1854, o médico britânico John Snow, com o intuito de conter o surto de cólera que devastava Londres, assinalou num mapa os locais de ocorrência de óbitos relacionados com a patologia, bem como os pontos públicos de abastecimento de água da cidade. Constatou uma elevada morbidade em redor de alguns postos de abastecimento de água, tendo sugerido às autoridades o encerramento dos mesmos. Esta decisão, apoiada em informação georreferenciada, permitiu a contenção da epidemia. Um exemplo bem mais recente da aplicação de sistemas de informação geográfica no campo epidemiológico é o do recente surto da doença do legionário, ocorrido entre 12 de outubro e 4 de dezembro de 20144. Neste caso, os sistemas de informação geográfica foram utilizados para o mapeamento dos casos de infeção, dos potenciais
1. Disponível em http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/estratégia [Consult. 26 novembro 2014]. 2. Idem, ibidem. 3. Hambrick (1980, p. 567) afirma que a estratégia é habitualmente vista como um padrão de decisões importantes que (1) guiam a organização nas suas relações com o ambiente; (2) afetam a estrutura interna e processo de organização e (3) afetam centralmente o desempenho da organização. 4. De acordo com o relatório conjunto da Direção-Geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP; Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP; Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Agência Portuguesa do Ambiente, publicado a 15 de dezembro de 2014. Disponível em http://www.dgs. pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/surto-de-doenca-dos-legionarios.aspx.
91
Untitled-13 91
28/08/15 11:54
| TERRITÓRIO |
focos de infeção e na visualização do corredor de ventos dominantes para a área durante aquela época do ano. Dos 375 casos registados (12 óbitos), 78% ocorreram com residentes no concelho de Vila Franca de Xira e todos, sem exceção, “tiveram ligação epidemiológica (residência, trabalho, permanência ou deslocação) ao concelho de Vila Franca de Xira ou freguesias limítrofes de outros municípios” (GEORGE et al., 2014, p. 3).
à procura crescente de informação georreferenciada, possibilitou um alargamento das áreas de atuação habituais dos SIG, em que se passaram a incluir também as ciências sociais. Desde então, o leque de técnicas de análise geográfica no âmbito das ciências sociais tem vindo a crescer, passando da mera manipulação e visualização de dados para o recurso às técnicas de análise espacial.
A RECOLHA, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA CONSTITUI O ÂMAGO DA ANÁLISE ESPACIAL E JÁ EXISTIA MUITO ANTES DE QUALQUER SISTEMA COMPUTORIZADO O aparecimento dos SIG digitais remonta à década de sessenta do século xx. O arquiteto e urbanista norte-americano Howard Fisher contribuiu de forma decisiva para este surgimento quando, em 1963, a partir de um computador, produziu e analisou cartografia simples. No entanto, o título de precursor do SIG, tal como é definido atualmente5, é normalmente atribuído a Roger Tomlinson que, entre 1962 e 1963, e em conjunto com a International Business Machines (IBM), iniciou o Canada Geographical Information System (CGIS) no contexto do projeto canadiano de cadastro rural. Tanto os sistemas manuais como os sistemas digitais tiveram, durante várias décadas, o seu território de aplicação preferencial na área do planeamento e ordenamento do território e do ambiente. Contudo, a melhoria substancial ocorrida nas condições tecnológicas de base (desde a facilidade de aquisição de dados à maior capacidade de processamento dos mesmos), aliada
Para além de um alargamento no domínio teórico, os SIG conquistaram também o seu espaço em diversos domínios de atividade (prática). O conhecimento integrado do território (delimitado por variáveis administrativas, económicas, urbanísticas ou sociológicas) tem apoiado as instituições na definição de objetivos de intervenção, na gestão de recursos e na avaliação da atuação no terreno. INTERVENÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE O processo de reorganização territorial da intervenção social local na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) constitui um exemplo paradigmático no qual os SIG desempenharam um papel estratégico. A oportunidade concedida pela reorganização administrativa do município de Lisboa6 – através da redução substancial do número de freguesias – foi aproveitada no sentido de uma maior operacionalização da participação da SCML ao nível
5. Sistema computorizado de integração, armazenamento, manipulação e visualização de informação georreferenciada. 6. As comissões sociais de freguesia são estruturas da Rede Social que se afirmam como plataformas de planeamento e coordenação da intervenção social ao nível da freguesia. A composição das comissões sociais de freguesia (CSF) está prevista no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho.
92
Untitled-13 92
28/08/15 11:54
| SOCIAL |
das comissões sociais de freguesia7, em linha com os princípios da governação integrada8. Citando o diretor da Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade, Mário Rui André, “o processo de reconfiguração do mapa de intervenção local da SCML não teve apenas em vista obter um modelo mais desconcentrado de organização (decorrente do aumento do número de unidades territoriais), mas também um modelo que permitisse aprofundar as lógicas de descentralização e de reforço da proximidade” (ExLibris, 2014, p. 5). O reconhecimento do caráter complexo, persistente e multifacetado de problemas sociais, como o desemprego e a baixa escolaridade, geradores de fenómenos de exclusão, com uma forte componente territorial, deve conduzir à procura permanente de soluções, ao nível da definição de políticas, estratégias, da gestão e da própria intervenção. Como refere Mário Rui André, “o que está em causa é, pois, em última instância, o surgimento de um novo paradigma de intervenção social, que reconhece e valoriza o papel do território, enquanto elemento fundamental no diagnóstico de problemas, no estabelecimento de relações de parceria e da ação coletiva, bem como na formulação de respostas e de soluções adequadas às realidades específicas de cada contexto” (ExLibris, 2014, p. 5). CONTRIBUTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA SCML A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deu os primeiros passos na utilização dos SIG aplicados à atividade da ação social em 2007, ficando o processo de consolidação concluído em 2011, altura que se iniciou o processo de disseminação que tem por objetivo a expansão das atividades, em três frentes: • produção de informação para o planeamento estratégico em respostas sociais específicas (estudos de oferta e procura potencial);
Planeamento estratégico
Figura 1. Níveis de gestão
Gestão (estratégica e operacional)
Intervenção direta (ferramenta de capacitação comunitária)
• alargamento temático, com a produção de informação para as áreas da infância e saúde de proximidade; • desenvolvimento de ferramentas online com vista à sua disseminação pelos serviços, proporcionando-lhes benefícios da análise geográfica simples, em tempo real. Desde então, o uso de sistemas de informação geográfica tem-se revelado importante na área da ação social da SCML ao nível do planeamento estratégico, do apoio à gestão estratégica e operacional, e na intervenção. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO Do ponto de vista do planeamento estratégico, a projeção da procura por respostas da SCML e a reorganização do modelo territorial de ação social local constituem duas dimensões de aplicação dos SIG na instituição. Os objetivos da análise geográfica, no que se refere à projeção da procura por respostas de proximidade no município de Lisboa, passam pela identificação de áreas de oferta redundante ou deficitária e pela caraterização socioeconómica da procura, tanto a efetiva como a potencial. Uma das aplicações concretas neste âmbito foi a caraterização da oferta-procura das respostas de centro de dia e de apoio domiciliário. Recorren-
7. Decreto-Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro de 2012. 8. “Estratégia política que procura coordenar o desenvolvimento e implementação de políticas, transversalmente a departamentos e agências [mas também instituições privadas e voluntariado], especialmente para abordar problemas sociais complexos como exclusão e pobreza” (Cit. por Marques et al. BOGDANOR, Vernon – Joined-up government. 2005).
93
Untitled-13 93
28/08/15 11:54
| TERRITÓRIO |
Figura 2. Análise de áreas de procura potencial a mais de 15 minutos a pé – Centro de Dia. Fonte: INE, Censos de 2001, Estimativas da População Residente; SCML/DGAI – Projeção da população idosa residente 2011; SCML, SIAS – abril de 2010 – março de 2011. Fonte cartográfica: IGP, CAOP 2009; Infoportugal 2010
do a ferramentas de geoprocessamento, foi possível efetuar a análise da acessibilidade pedonal aos diversos centros de dia existentes na cidade, com o objetivo de identificar as áreas de maior potencial de crescimento em termos de procura e de verificar a relação espacial entre a população utente e o conjunto de respostas, garantindo níveis de acessibilidade adequados. No que se refere ao planeamento estratégico do modelo de intervenção territorial, a reorganização administrativa do concelho de Lisboa contribuiu para a efetivação do processo de reestruturação da intervenção social local da SCML. Neste âmbito, os SIG desempenharam um papel fundamental na formulação em tempo útil de diferentes cenários de arranjo territorial da intervenção de proximidade.
base e a crescente articulação com os diferentes sistemas de informação existentes na instituição permitiram a consolidação da eficácia da ferramenta, proporcionando uma visão mais integrada da atividade e do território. Um exemplo da aplicação desta ferramenta a este nível é o sistema geográfico de apoio à gestão de situações de emergência (SGAGSE), que tem como objetivo localizar de forma atempada os utentes idosos de centro de dia e de apoio domiciliário em caso de catástrofe, priorizando o socorro em função do grau de vulnerabilidade atribuído. O referido sistema dispõe de uma cobertura de 99% dos utentes que beneficiam das respostas não residenciais para idosos, permitindo à instituição, em tempo real, uma noção da distribuição geográfica dos seus utentes.
APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA No apoio à gestão estratégica, a recolha sistemática de informação geográfica e alfanumérica de
GESTÃO OPERACIONAL Ao nível da gestão operacional, as aplicações geográficas possibilitam o acesso dinâmico às
94
Untitled-13 94
28/08/15 11:54
| SOCIAL |
diferentes camadas de informação disponibilizadas de modo interativo. Outra mais-valia consiste na possibilidade de realização de pesquisas e cruzamento de resultados entre diferentes conteúdos temáticos. A disseminação do WebSIG da SCML pelos serviços permitirá a utilizadores de vários departamentos visualizar, cruzar e pesquisar diversos temas,
ticipado para apoio à organização de moradores e teve início em finais de 2012, em parceria com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT-UL). Desta sinergia resultou a criação de um protótipo de SIG local, com o qual se desenvolveram as seguintes ações: • diagnóstico participado com as crianças e jovens do projeto Sementes (Escolhas 4.ª Ge-
RECORRENDO A FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO, FOI POSSÍVEL EFETUAR A ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE PEDONAL AOS DIVERSOS CENTROS DE DIA EXISTENTES NA CIDADE DE LISBOA tais como: utentes idosos da SCML; equipamentos e serviços da SCML; património imobiliário da SCML; unidades operacionais da SCML (áreas de influência e intervenção) e outras respostas constantes da Carta Social no município de Lisboa. A implementação do sistema de sinalização de idosos vulneráveis (SIV), aplicação geográfica online dirigida à problemática do isolamento entre a população idosa, permitirá apoiar o trabalho de gestão de casos das equipas multidisciplinares dedicadas ao diagnóstico e encaminhamento destas situações. INTERVENÇÃO Ao nível da intervenção, o mapeamento participativo revela-se uma poderosa ferramenta de intervenção comunitária, contribuindo para a capacitação da população envolvida, como é o caso do programa desenvolvido em duas fases pela Equipa de Intervenção Comunitária (EIC) do K’CIDADE Vale de Chelas (a EIC é uma equipa com técnicos da SCML e da Fundação Aga Khan Portugal, coordenada pela primeira). A primeira fase consistiu na criação de um SIG par-
ração), do qual saíram propostas e uma carta para a Junta de Freguesia do Beato com as principais ideias surgidas das sessões de trabalho: um campo polidesportivo e um parque com sinais de trânsito para brincarem e treinarem as regras elementares de segurança rodoviária; • levantamento dos danos que as obras da REFER na linha de comboio causaram no bairro: destruição de passeios, sujidade das ruas com lamas e detritos, abalroamento de poste, achatamento de lombas de segurança rodoviária e afundamento de pavimento alcatroado em algumas estradas locais. O mapa foi usado como material de suporte à negociação da Associação de Moradores “Viver Melhor no Beato” – responsável pelo levantamento fotográfico – com a Junta de Freguesia do Beato e com a REFER. Em meados de 2013, a Câmara Municipal de Lisboa convidou a Equipa de Intervenção Comunitária K’CIDADE Vale de Chelas para integrar as comissões executivas do Bairro Horizonte (Penha de França) e do Beato do Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária (GABIP), ex-SAAL e Autoconstrução, do grupo executivo do projeto USER9 Lisboa, cofinanciado pelo URBACT II.
9. Programa europeu destinado a apoiar a resolução de conflitos entre agentes em territórios urbanos de rápida evolução. Mais informação disponível em http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/user/homepage/.
95
Untitled-13 95
28/08/15 11:54
| TERRITÓRIO |
Figura 3. Mapa participativo dos problemas causados pela REFER
Deu-se assim início à segunda fase, que inclui a construção de um SIG participado. O trabalho no âmbito do GABIP para investir nos bairros cooperativos restringiu-se, por ora, à organização de lotes para pintura dos prédios e à substituição dos telhados (remoção de materiais com amianto), pese embora o facto de estar também prevista no projeto a construção de um plano de ação local pela rede local de parceiros. Foi construída uma base de dados geográfica composta por informação técnica (serviços da Câmara Municipal de Lisboa, Censos 2011 e outras fontes), à qual acresce uma camada de informação obtida a partir de um diagnóstico participado com moradores e organizações locais, conduzido pela EIC K’CIDADE em sessões públicas e grupos de foco. Os diagnósticos foram realizados em novembro de 2014, usando a metodologia do mapeamento participado (levantamento de necessidades e de propostas para a renovação do espaço público). O desenvolvimento comunitário constituirá provavelmente a aplicação dos SIG na SCML que mais se aproxima do indivíduo e da sua comunidade. Na
fronteira entre intervenção de proximidade e autogovernação, as comunidades podem encontrar nos SIG poderosos aliados na defesa dos seus interesses. REFLEXÕES SOBRE O FUTURO DOS SIG NA SCML A evolução do uso dos SIG na SCML está, de algum modo, ligada à própria evolução das condições de base que lhe está subjacente. De modo proativo, a atividade em SIG tem superado diversos obstáculos a montante da própria análise geográfica e gerado, simultaneamente, diversas externalidades positivas para a atividade da instituição. Estas mais-valias vão desde a maior consistência e integração dos dados e dos sistemas de informação tradicionais até aos contributos dados na melhoria das condições de base tecnológica (rede, parque informático). No final do projecto USER pretende-se disponibilizar a informação local através de um websig que possa melhorar o nível de informação acerca das necessidades e propostas dos moradores para a sua comunidade. No presente, o desafio ainda continua a ser uma sensibilização para as mais-valias de uma visão geográfica da informação, o que apenas será
96
Untitled-13 96
28/08/15 11:54
| SOCIAL |
possível através da utilização generalizada de aplicações geográficas online, cujo licenciamento é independente do número de utilizadores e cuja configuração pode ser feita de modo a ajustar-se às competências e necessidades de cada serviço. De futuro, a partilha de conteúdos com a rede de parceiros sociais e a própria comunidade cons-
titui uma potencialidade, quer do ponto de vista da obtenção de dados fiáveis e atualizados quer da sua disponibilização, podendo servir de base à criação de uma plataforma comum, potenciando a criação de sinergias, com benefícios para a eficiência na alocação de recursos.
BIBLIOGRAFIA ANSELIN, Luc – The future of spatial analysis in the social sciences. Geographic Information Sciences [online]. Vol. 5, n.º 2,
tubro 2014]. Disponível em http://www.ifad.org/pub/map/ PM_web.pdf.
1999. pp. 67-76. [Consult. 24 novembro 2014]. Disponível em
MARQUES, Rui (coord.); MARTINGO, Carla; ASSIS TEIXEI-
http://www.odum.unc.edu/content/pdf/Anselin%201999%
RA, Francisca; SALDANHA, Madalena; GUEDES, Nuno; BOU-
20Future%20of.pdf.
RA, Patrícia; GÓIS, Pedro; MIRA VAZ, Pedro – Problemas com-
GOODCHILD, Michael F.; JANELLE, Donald G. – Thinking
plexos e governação integrada [online]. 1.ª edição. Fórum para a
spatially in the social sciences. Spatially Integrated Social Science
Governação Integrada, 2014. ISBN 978-972-99721-3-3. [Con-
[online]. New York, USA: Oxford University Press, 2003, p. 3-17.
sult. 24 novembro 2014]. Disponível em: http://issuu.com/go-
ISBN 019-534-846X. [Consult. 20 outubro 2014]. Disponível
vint/docs/govint_book_1_issuu.
em https://books.google.pt/books?isbn=019534846X.
PEREIRA, Filipa – DIDIP: novos paradigmas de intervenção
GRANCHO, N. J. – Origem e evolução recente dos sistemas
social. ExLibris - Comunicação e Informação [online]. [Suplemento
de informação geográfica em Portugal. Lisboa: Instituto Superior
do jornal Público - Especial Ação Social Santa Casa]. Publicado a
de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova,
27 de fevereiro de 2014. [Consult. 24 novembro 2014]. Dispo-
2005. 157 p. Tese de mestrado. [Consult. 20 outubro 2014].
nível em http://www.exlibrisci.pt/?p=690.
Disponível em http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esr
QUERALT, Magaly; WITTE, Ann D. – A map for you? Geo-
c=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%
graphic information systems in the social services. Social Work
2F%2Frepositorio.ul.pt%2Fbitstream%2F10451%2F6086%2F
[online]. New York, USA: Oxford University Press. Vol. 43,
6%2Figotul001422_tm.pdf&ei=NBqUVNOMJ9fiavuOgtAE&
n. º 5 (1998), pp. 455-469. ISSN 1545-6846. [Consult. 20 ou-
usg=AFQjCNFI7099ztk7mJrwV9dAResRD-ZpTg&sig2=zH4G
tubro 2014]. Disponível em http://sw.oxfordjournals.org/con-
ll0gxEpN0LC60bhWpQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ.
tent/43/5/455.full.pdf.
HAMBRICK, D. C. – Some tests of the effectiveness and func-
TOBLER, W. R. – A computer movie simulating urban growth
tional attributes of Miles and Snow’s strategic types. Academy of
in the Detroit region. Economic Geography [online]. Clark Uni-
Management Journal [online]. Vol. 26, n.º 1, 1983, pp. 5-26. [Con-
versity. Vol. 46 [Supplement: Proceedings. international geo-
sult. 24 novembro 2014]. Disponível em http://www.jstor.org/
graphical union. Commission on quantitative methods], junho
discover/10.2307/256132?uid=3738880&uid=2129&uid=213
1970, pp. 234-240. [Consult. 20 outubro 2014]. Disponível
4&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21105336478433.
em http://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobre
HILLIER, Amy E. – Why social work needs mapping. Journal
za-infantil/bibliografia/capitulo-IV/Tobler%20Waldo%20
of Social Work Education [online]. Vol. 43, n. º 2 (2007), pp. 205-
(1970)%20A%20computer%20movie%20simulation%20
-221. [Consult. 20 outubro 2014]. Disponível em http://reposi-
urban%20growth%20in%20the%20Detroit%20region.pdf.
tory.upenn.edu/spp_papers/86/.
VALÉRY, Paul – Réponse de M. Paul Valéry au discours de M.
IFAD (Organização das Nações Unidas) – Good practices in
le maréchal Pétain [online]. [Consult. 24 novembro 2014]. Dis-
participatory mapping: a review prepared for the International Fund
ponível em http://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A9ponse_
for Agricultural Development [online]. Roma, Italia: International
de_ M._ Paul_Val%C3%A9ry_au_discours_de_ M._le_
Fund for Agricultural Development, 2009. [Consult. 20 ou-
mar%C3%A9chal_P%C3%A9tain.
97
Untitled-13 97
28/08/15 11:54
| APRENDIZAGEM |
Boas práticas DE FORMAÇÃO EM ADOÇÃO A formação em adoção constitui uma área relevante para desenvolver capacidades, fortalecer potencialidades, sublinhar necessidades e antecipar dificuldades que dão forma ao que é a adoção. Texto de Sandra Costa Silva [PSICÓLOGA, UNIDADE DE ADOÇÃO, APADRINHAMENTO CIVIL E ACOLHIMENTO FAMILIAR_SCML]
98
098-107.indd 98
28/08/15 11:56
| SOCIAL |
A
introdução da formação em adoção na Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar (UAACAF)1 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa remonta ao ano de 2005, com a realização de encontros formativos para famílias selecionadas que esperavam pelo momento de adotar, então denominados “Encontros com Adoção”. Estes encontros surgiram não só da necessidade sentida pelos técnicos – de fomentar uma cultura de adoção realista e de minimizar os riscos na adoção –, mas também da necessidade sentida pelos candidatos – de esclarecimento de dúvidas e preparação para a chegada do seu filho. O plano de formação para a adoção2 começa a ser implementado a nível nacional em 2010, com o objectivo da “qualificação dos serviços”3 e de “proporcionar uma adequada preparação dos candidatos a adotantes para os desafios e problemáticas específicas da parentalidade adotiva, facilitando uma maturação responsável do projeto adotivo, maior implicação dos
QUADRO 1. Formação para a Adoção, UAACAF
SESSÃO A
SESSÃO B
SESSÕES C
ENCONTRO DE PRÉ-ADOÇÃO
O TEMPO É DE DECISÃO
O TEMPO É DE ESTUDO DA CANDIDATURA
O TEMPO É DE DE ESPERA
O TEMPO É DE PRÉ-ADOÇÃO
FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA
APROVAÇÃO DA CANDIDATURA
CONFIANÇA DA CRIANÇA EM PRÉ-ADOÇÃO
1. Anteriormente designada Serviço de Adoção. 2. Adaptação do Programa de Formación para la Adopción de J. Palacios, E. León, Y. Sánchez-Sandoval, P. Amorós, N. Fuentes & J. Fuertes. (2006). Junta de Andalucía. Conserjería para la Igualdad y Bienertar Social. Dirección General de Infancia e Família, organizada pelo Instituto da Segurança Social, I.P. e pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 2011/2013. 3. Manual de intervenção dos organismos de Segurança Social na adopção de crianças. Departamento de Desenvolvimento Social e Programas / Unidade de Infância e Juventude / Setor da Adoção, 2014.
99
098-107.indd 99
28/08/15 11:56
| APRENDIZAGEM |
candidatos a adotantes na avaliação das suas próprias capacidades parentais e a adequação das suas expectativas às realidades da adoção”. Atualmente, pensar formação em adoção é refletir sobre um caminhar que contempla diferentes tempos: o tempo de decisão, o tempo de estudo da candidatura, o tempo de espera e o tempo de pré-adoção. O plano de formação para a adoção decorre durante os tempos de decisão, do estudo da candidatura e de espera. Na fase da pré-adoção, em que a criança já está com a família, o serviço promove encontros de pré-adoção, contando com a experiência dos técnicos também nesta área. O TEMPO É DE DECISÃO
PENSAR FORMAÇÃO EM ADOÇÃO É REFLETIR SOBRE UM CAMINHAR QUE CONTEMPLA DIFERENTES TEMPOS: O TEMPO DE DECISÃO, O TEMPO DE ESTUDO DA CANDIDATURA, O TEMPO DE ESPERA E O TEMPO DE PRÉ-ADOÇÃO” Estamos no momento que antecede a apresentação de uma candidatura à adoção. Integrado no plano de formação para a adoção, o primeiro momento é a sessão A, uma sessão informativa que tem a duração de três horas. O certificado de participação deve ser obrigatoriamente apresentado no momento de formalização da candidatura. Esta sessão é orientada por um técnico com valência em psicologia ou serviço social e por um jurista. Destina-se a todos os cidadãos que cumpram os requisitos legais para efetuar uma candidatura à adoção. Este primeiro momento de formação, intitulado “Adoptar? Como fazer?”, tenta responder às necessidades de clarificação de dúvidas e de
procura de algumas respostas sentidas pelos participantes nesta fase inicial, contribuindo para uma melhor decisão da candidatura à adoção. Tal como o próprio plano de formação pressupõe, a sessão tem como objetivos gerais “clarificar o conceito, objetivos e modalidades de adoção; conhecer a situação e as necessidades específicas das crianças com projeto de adoção; conhecer o que é necessário para o adulto se envolver num projeto de adoção, quais as capacidades adultas que permitem responder às necessidades das crianças; informar sobre os trâmites legais da adoção nacional e internacional; conhecer o processo de adoção; esclarecer questões”. Da experiência dos técnicos ressalta que esta primeira abordagem em sessão informativa tem sido uma mais-valia. No passado, os técnicos recebiam individualmente os interessados que vinham ao serviço para colocar dúvidas e questões, muitas vezes comuns. Acresce também o facto de que, numa abordagem individual, outro tipo de informação mais sistematizada ficava por devolver. Sentimos pois que o objetivo da sessão “questionar e refletir sobre os aspetos inerentes a um projeto de adoção” tem sido alcançado. Os próprios candidatos devolvem essa informação quando, no início do processo de candidatura, referem que “foi esclarecedor” e que a abordagem “foi muito clara, muito interessante”, ajudando a “perceber melhor os contornos da adoção”. Uma candidata reforça a importância da formação como um momento de reflexão, sublinhando que “tinha algumas dúvidas, algumas coisas em que nem tinha pensado sobre a integração da criança e coisas legais, e fiquei esclarecida”. Outro acrescenta que “foram referidos muitos elementos úteis, uma explicação detalhada de todo o processo”. A opinião geral é a de que “foi útil ouvir alguns pensamentos e abordagens sobre o assunto, e ouvir questões que se devem colocar mais racionalmente”. Na sessão A, podemos ainda perceber que o ajuste entre as expectativas de quem deseja adotar e a realidade é um ponto de partida fundamental. Um casal candidato sublinha que sentiu
100
098-107.indd 100
28/08/15 11:56
| SOCIAL |
a sessão como “um alerta de que a adoção não é cor-de-rosa, as coisas não são fáceis, há histórias difíceis”. E, na mesma sequência, o casal destaca que “houve uma imagem importante, que foi a de passar a ideia de que estas crianças vêm já com uma mochila, maior ou mais pequena, colorida ou a preto e branco, mais preenchida ou com mais vazios”, aspeto que é transversal na adoção. A partir daqui, o que é pedido aos futuros pais é que assimilem a ideia da existência da “mochila”. “A formação ajuda a aprender isso, a olhar para a nossa mochila, para um dia podermos ver a mochila da nossa filha e adotarmos a dela», refere uma outra candidata. O conceito de “mochila” em adoção é abordado por vários autores que utilizam esta analogia quando se referem às vivências anteriores e distintas da criança e da família, as quais devem ser respeitadas (SCHETTINI, AMAZONAS & DIAS, 2006). O TEMPO É DE ESTUDO DA CANDIDATURA Na fase de estudo da candidatura, que decorre durante o prazo legal de seis meses, surge um segundo momento integrado no plano de formação para a adoção, a sessão B, que não tem um caráter avaliativo para o processo de candidatura. Esta sessão tem a duração de três horas e é dirigida a um grupo de dez a 15 elementos, casais e/ou singulares consoante as candidaturas que estejam em análise nesta fase. Intitulada “Que criança/s estou capaz de adotar?”, esta sessão tem como objetivo essencial “contribuir para a definição do projeto de adoção a partir do modelo de necessidades-capacidades”. Diz respeito às capacidades que os candidatos devem apresentar para irem ao encontro das necessidades das crianças. A adoção constrói-se assim a partir de um verdadeiro desejo de ser mãe/pai e de uma motivação adequada (RICART, 2005). O que se pretende é “introduzir pistas para os próprios candidatos irem equacionando o seu projeto de adoção e clarificando as suas pretensões”, para que este se torne realista. Entre os vários objetivos gerais previstos para esta sessão, pretende-se refletir sobre as cren-
ças prévias e generalizadas acerca da adoção. Na sequência de um dos exercícios realizados, é interessante observar que muitos participantes corroboram a ideia de que é verdadeiro que “há diferenças entre famílias adotivas e famílias biológicas”, no sentido em que “ninguém adota um filho por acaso; há uma vontade explícita; são muitos meses a pensar sobre a decisão e depois muitos anos de espera, questões que as famílias biológicas não sentem da mesma maneira”. Esta é uma sessão à qual os participantes aderem ainda com mais interesse, por ser “mais dinâmica” do que a sessão A e por apresentar o benefício, entre outros, de permitir estar em grupo, possibilitando a interação com os outros. A “participação” dos vários candidatos é um aspeto muito valorizado, bem como as “diferenças de opinião” e “as diferentes perspetivas”, ou seja, a partilha de opiniões e de diferentes pontos de vista. As dinâmicas propostas são consideradas “muito interessantes”, tal como os exercícios
O AJUSTE ENTRE AS EXPECTATIVAS DE QUEM DESEJA ADOTAR E A REALIDADE É UM PONTO DE PARTIDA FUNDAMENTAL” com casos práticos, que “dão rosto, dão consistência àquilo que são as dificuldades”. Além disso, “a partilha de histórias concretas faz pensar bastante”, frisando os participantes que “ouvir falar de diferentes cenários” através de filmes que apresentam depoimentos de famílias adotivas é também “um testemunho importante”. O TEMPO É DE ESPERA Estamos na fase em que os candidatos se encontram já selecionados e integram a “lista de espera” daqueles que desejam adotar. Esta é, geralmente, uma etapa vivida com angústia, face à imprevisibilidade da concretização do projeto de 101
098-107.indd 101
28/08/15 11:56
| APRENDIZAGEM |
adoção e ao desejo subjacente. Por isso, os sentimentos vivenciados pelos candidatos durante este período devem ser reconhecidos e acompanhados (SCHETTINI, AMAZONAS & DIAS, 2006). Para esta fase, o plano de formação para a adoção prevê a realização de sessões C. A formação C integra cinco sessões que são conduzidas em pequenos grupos de dez a 15 ele-
A PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS VIVIDAS É SEMPRE UMA MAIS-VALIA PARA OS NOVOS CANDIDATOS, PORQUE LHES PERMITE ANTECIPAR AS COMPETÊNCIAS QUE LHES SÃO EXIGIDAS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA OU DO JOVEM” mentos, cuja constituição deve manter-se durante todo o período de formação. À semelhança da sessão B, estas sessões são também orientadas por dois técnicos, de preferência com formações complementares, em psicologia e serviço social, o que constatamos ser bastante benéfico. A experiência técnica na área enriquece a formação, pela apresentação de casos concretos que vão sendo introduzidos como exemplo, ilustrando situações reais. As sessões C pretendem constituir uma oportunidade de preparação para as especificidades da parentalidade adotiva, tendo em conta que “a adoção coloca desafios e impõe tarefas que vão para além das presentes na vida de qualquer família”, pois pressupõe “o encontro de duas trajetórias de vida diferentes”: a dos candidatos, que querem ser pais, e a das crianças, que não puderam continuar a viver com as suas famílias de origem. Desta forma, criam-se vínculos permanentes, jurídicos e emocionais entre pessoas
que antes não tinham qualquer relação. Tal como referido por alguns autores (NUNES, 2008), na adoção é exigida maior adaptação, quer ao adulto quer à criança, para que a integração desta no novo seio familiar decorra de forma adequada. Um encontro de formação C Como exemplo de uma das sessões – e tendo em conta o que é pressuposto serem os conteúdos destas sessões e a forma como abordá-los – e no sentido de dar resposta a uma necessidade expressa pelos participantes, foi possível introduzir, numas destas sessões, testemunhos escritos e presenciais de pais que já tinham adotado. A partilha de experiências vividas é sempre uma mais-valia para os novos candidatos, porque lhes permite antecipar as competências que lhes são exigidas ao longo do desenvolvimento da criança ou do jovem (NUNES, 2008). Numa sessão intitulada “Comunicar sobre a adoção”, que tem como objetivo principal formar os participantes no sentido de estes manterem sempre em aberto a comunicação sobre a adoção e o passado da criança – quer dentro quer fora da família –, foi possível apresentar o testemunho escrito de uma família que tinha adotado dois filhos após o nascimento de uma filha biológica. O casal começou por sublinhar que, “para orientar o crescimento positivo dos nossos filhos, temos de olhar sempre para o lado positivo das coisas, como para a Lua: há sempre um lado escuro e outro brilhante”. E adiantou: “A adoção e as diferentes formas de os nossos filhos ‘terem nascido’ foi sempre objeto de conversa espontânea e natural, desde pequenos, o que facilita a gestão por parte deles fora da família e ao longo do crescimento. Eles perguntam e nós tentamos responder, de forma clara e adequada à idade de cada um.” Com o seu crescimento, “temos aprendido a reservar cada vez mais tempo para ouvir e conversar. Mostrar preocupação e interesse pelos desabafos tem sido importante”. No que se refere à abordagem do tema fora do seio familiar, estes pais referiram que os amigos
102
098-107.indd 102
28/08/15 11:56
| SOCIAL |
dos filhos que frequentam a casa “vivenciam a naturalidade e a normalidade das diferenças”. Na escola, “professores e muitos amigos ficam sempre direta ou indiretamente a saber” e, também aqui, o assunto surge de forma natural. Num momento de briga, os colegas de um dos filhos “aproveitaram a ‘diferença’ e disseram: ‘Foste adotado, és um chato, nem a tua mãe te quis.’” E os pais, nos bastidores, refletiram sobre o assunto. “Claro que não era naquele momento que ele poderia explicar, como bem sabe, que uma criança adotada não é uma criança indesejada.” E explicaram com segurança que, quando “os pais biológicos não ficam com os seus filhos é por diferentes razões: não ter condições físicas, morais, materiais e muitas mais; mas se pudessem e tivessem capacidade, decerto desejariam ficar com os próprios filhos”. Desta forma, frisam: “Tentamos mostrar o lado positivo de ser adotado.” De maneira a ajudarem o filho a lidar com o assunto junto dos colegas e amigos, o casal esclareceu: “Explicámos que os amigos não percebem porque não sabem. Dizem coisas sobretudo para chatear, sem as sentir mesmo. Mas que ele podia responder algo do tipo: ‘Tenho pais que me quiseram e desejaram muito.’”. Junto do filho, tentam que este “perceba que a diferença, seja ela qual for, é uma mais-valia”. No futuro, imaginam que “terá muitas coisas, para contar, para se lembrar. Para ele, que quer ser realizador de cinema, até é bom, pois, um dia, a sua vida poderá dar um filme!” Numa outra sessão integrada na formação C, intitulada “Lidar com comportamentos problemáticos e situações de adoção particulares”, foi possível contar com o testemunho presencial de um casal que havia adotado uma criança em idade escolar. Ao falarem da filha, começaram por sublinhar, com um sorriso: “Está muito diferente hoje do que era há dois anos, há uma evolução imensa… a segurança, a tranquilidade, a postura perante a vida.” E vão ao pormenor de dizer que, “até fisicamente, nas fotos, está diferente, mais sorridente. Parece que estava à espera de
ser adotada”. Neste sentido, frisam o sentimento partilhado pela filha: “Ela diz que o dia em que nos conhecemos foi o mais feliz da sua vida.” Este testemunho permitiu aos participantes da sessão confirmarem muitos dos conteúdos previamente abordados pelos técnicos. Os pais acrescentaram que, depois da fase de enamoramento, “começaram os testes, as birras”, mas que é necessário compreensão para entender que “por detrás da birra há sempre qualquer coisa”. Recordam que na filha “vieram ao de cima uma série de incertezas, de situações novas com
AO FALAR DA FILHA, UM CASAL QUE HAVIA ADOTADO UMA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR, COMEÇOU POR SUBLINHAR, COM UM SORRISO: “ESTÁ MUITO DIFERENTE HOJE DO QUE ERA HÁ DOIS ANOS, HÁ UMA EVOLUÇÃO IMENSA… A SEGURANÇA, A TRANQUILIDADE, A POSTURA PERANTE A VIDA” as quais não sabiam como lidar, para depois esperar de nós a confirmação”. E é a própria criança que, mais tarde, devolve aos pais o porquê dessa situação: “Eu fazia isso para saber se ia ficar.” Estes pais confirmam aquilo que é transversal na adoção, ou seja, que a filha “queria perceber que ia ficar para sempre!”. E acrescentam que, quando a filha chegou a este estado emocional, “as birras passaram” e as inseguranças puderam organizar-se num formato mais adequado à idade. “Às vezes, fazia interpelações por ter sido adotada”, referem. Nas respostas que os pais vão dando, sobressai no discurso algo que é fundamental: “Apaziguamos muito o coração dela, damos-lhe muito apoio, falamos e ela fica mais tranquila.” E um dia é a filha que conta a uma amiga o começo 103
098-107.indd 103
28/08/15 11:56
| APRENDIZAGEM |
da sua história: “Sabias que eu nasci duas vezes, a primeira da minha mãe, a biológica, e a segunda quando os meus pais me foram buscar?” Os pais terminam o testemunho sublinhando ser “uma sorte” terem a filha que têm, mimando-a com muitos elogios, que é também o que qualquer filho deseja muito dos pais. Dizem ainda: “É muito alegre, muito divertida, com muita capacidade para falar e pensar, muito elaborada.” No dia-a-dia, é a filha que também diz aos pais
NUM ENCONTRO DE PRÉ-ADOÇÃO, CADA FAMÍLIA APRESENTA A SUA CRIANÇA. AOS ADOTANTES É PEDIDO QUE IDENTIFIQUEM DOIS OU TRÊS ADJETIVOS QUE DESCREVAM A CRIANÇA. SURGE LOGO UM PONTO EM COMUM ENTRE TODOS: OS ADJETIVOS ESCOLHIDOS SÃO TODOS POSITIVOS” “coisas muito bonitas” e que claramente lhes traz “emoção”. Com um sorriso, a mãe termina dizendo: “Estou anotando estas coisas todas num caderninho, para lhe dizermos quando for grande.” O TEMPO É DE PRÉ-ADOÇÃO Segue-se a fase em que os candidatos já são adotantes e se encontram com a criança em pré-adoção, isto é, estão em exercício das funções parentais desde que a criança lhes está confiada. Durante este tempo, que dura cerca de seis meses, os técnicos da UAACAF promovem um encontro entre adotantes, o encontro de pré-adoção. Este encontro – que ocorre geralmente numa fase adiantada da pré-adoção – permite conhecer outras famílias e partilhar experiências pessoais e familiares destes primeiros meses vividos com a criança.
É um formato que vem sendo desenvolvido desde há longa data e que surge na sequência das necessidades sentidas pelos técnicos sobre a importância de fortalecer as capacidades dos adotantes e potenciar o desenvolvimento de outras competências. Este fortalecimento é fundamental, conforme sublinham autores que referem que a formação parental a que os candidatos e adotantes estão sujeitos durante o processo de adoção permite a aquisição de competências e estratégias educativas mais eficazes (BRODZINSKY & PINDERHUGHES, 2002. Cit. por Nunes, 2008, p. 12). O desenho do encontro de pré-adoção é traçado de acordo com o grupo de participantes. Sempre que possível, considera-se importante procurar indicadores comuns no grupo que se constitui, nomeadamente no que se refere às caraterísticas da criança – por exemplo, à sua idade, ou o tempo em que se encontra na fase de pré-adoção. O encontro decorre numa manhã ou numa tarde, geralmente em grupos mais pequenos, que incluem no máximo dez participantes. Em situações mais complexas do acompanhamento em pré-adoção também é possível realizar este encontro num formato mais reduzido e específico, podendo, por exemplo convidar-se uma família que já tenha adotado para dar o seu testemunho. Efetivamente, esta partilha constitui uma mais-valia para a nova família que está a vivenciar dificuldades. De forma geral, na avaliação destes encontros transparece a satisfação dos participantes no que se refere à organização, à riqueza da partilha e da “troca de experiências” e à “discussão franca das questões”. Um encontro de pré-adoção Este encontro começou com a apresentação dos participantes em formato de heteroapresentação em pares (à semelhança de formações anteriores), em que cada participante apresenta o outro, identificando o nome e agregado. É interessante observar que este mote permite a partilha de mais conteúdos entre os participantes, estendendo-se a conversa para o que aconteceu
104
098-107.indd 104
28/08/15 11:56
| SOCIAL |
no começo de tudo: o desejo de adotar. A partilha em grande grupo revela ser de uma enorme riqueza. De seguida, a leitura partilhada de um pequeno texto serve de reflexão e de início de conversa. Agora é a vez de cada família apresentar a sua criança. Este é um momento de reflexão individual ou a dois, consoante se trate de um adotante singular ou de um casal. Aos adotantes é pedido que identifiquem dois ou três adjetivos que descrevam a criança. É interessante observar que surge logo um ponto em comum entre todos, ou seja, os adjetivos escolhidos são todos positivos: “determinada, curiosa, muito alegre”; “feliz, desenvolta, simples”; “energético, muito carinhoso, com muito humor”; “muito humor”; “muito meiga, sociável, esperta, bem-disposta”; “bem-disposto, gozão, muito meigo, vitorioso, conquistador”, etc. Na sequência da identificação dos adjetivos, cada família faz questão de concretizar de que forma estas caraterísticas se revelam na sua criança. O encontro prossegue com uma troca de experiências e a conversa foca-se no que tem sido o período de pré-adoção: a evolução sentida na criança, o confronto entre expectativas e realidade, os desafios e as dificuldades sentidas. Em todos os participantes sobressai que o seu filho/a “superou as expectativas”. “Pensámos que a adaptação era mais difícil”, refere um casal. Em termos do desenvolvimento da criança, assinalam a “grande evolução” sentida, que pode traduzir-se na linguagem, entre outros aspetos. Quanto aos desafios ressaltam fatores relacionados com a introdução de rotinas e novas regras em família, mas consideram ser algo expectável em adoção, porque estamos a falar de uma nova realidade para a criança. A prioridade e a importância de conquistar e fortalecer afetos é um desafio inquestionável. No desenrolar deste encontro de pré-adoção surge, entretanto, um tema fulcral da parentalidade adotiva: a importância de integrar a história de vida da criança, o passado familiar e institucional, desde a sua chegada à família. Saber
como reagir quando a criança faz referências ao passado e lidar com o assunto de forma adequada. A opinião dos participantes é unânime: “A criança tem o direito de saber a sua história.” Contudo, surgem frequentemente dúvidas pertinentes sobre a forma de introduzir e/ou abordar o assunto. Os técnicos intervêm, ver-
UM TEMA FULCRAL DA PARENTALIDADE ADOTIVA É O DA IMPORTÂNCIA DE INTEGRAR A HISTÓRIA DE VIDA DA CRIANÇA, O PASSADO FAMILIAR E INSTITUCIONAL, DESDE A SUA CHEGADA À FAMÍLIA. SABER COMO REAGIR QUANDO A CRIANÇA FAZ REFERÊNCIAS AO PASSADO E LIDAR COM O ASSUNTO DE FORMA ADEQUADA” balizando e reforçando sugestões técnicas, destacando como essencial que o assunto seja abordado desde logo e de forma progressiva, adequada às necessidades e à idade da criança. Assim, em adoção é pedido aos adotantes que reconheçam esta necessidade de informação e as tentativas que a criança faz de integração da mesma como um interesse e uma necessidade esperada (BRODZINSKY & PITNDERHUGHES, 2002. Cit. por NUNES, 2008). Nestes encontros, algumas vezes temos o privilégio de contar com testemunhos ao vivo sobre a forma como os pais vão ajudando o seu filho a lidar com a sua história. Tanto as famílias que já adotaram mais recentemente como as que o fizeram há mais tempo vêm dar o seu testemu105
098-107.indd 105
28/08/15 11:56
| APRENDIZAGEM |
nho. Claramente, esta é uma partilha bem recebida pelos participantes. Refere uma mãe: “Não me consigo lembrar de quando foi o primeiro dia em que falei sobre o assunto e, quando ele veio para nossa casa, só
AS DINÂMICAS PROPOSTAS NAS SESSÕES DE FORMAÇÃO SÃO CONSIDERADAS ‘MUITO INTERESSANTES’ PELOS PARTICIPANTES, TAL COMO OS EXERCÍCIOS COM CASOS PRÁTICOS, QUE ‘DÃO ROSTO, DÃO CONSISTÊNCIA ÀQUILO QUE SÃO AS DIFICULDADES’” tinha pouco mais de 1 ano.” Mas existe algo que é inquestionável: “É de bom senso, não faz sentido não falar.” Para o efeito, aproveita-se tudo aquilo que está à mão ou que vai surgindo no quotidiano. Por exemplo, dizem estes pais que, para conversar sobre o assunto, “utilizámos o álbum que fizemos antes de o conhecer e o álbum que ele
trouxe quando veio cá para casa. Falávamos, explicávamos e ele depois começou a perguntar”. O desejo dos pais deve ser falado desde o início. “Digo-lhe: ‘Sempre quis ter um bebé e não posso pela barriga. Tu és o filho que nós sempre quisemos.’” Desta forma, a criança vai crescendo em segurança afetiva e ela própria vai, mais tarde, falar do assunto com tranquilidade, não só aos pais e em família, mas aos técnicos que a vão encontrando e até aos amigos na escola. Quase a terminar este encontro, lê-se na página de um livro: “Um dia, quando eu já era crescido […] e tinha um filho nos braços, abri um livro velho das histórias de quando eu era pequeno. Era grande e bonito como o tempo que tinha passado. Contava tudo isto aos bocadinhos, desde o peso com que nasci, à primeira palavra que disse, à vez daquela queda de bicicleta e de um beijinho à namorada… Tinha as páginas todas, certas e por ordem, daquilo que fui de menino a pai. Era um livro de uma capa linda e azul!” (Histórias de Ouvir e Dizer, de Pedro Strech). Em jeito de conclusão, é importante acrescentar que, no âmbito das sessões C, geralmente na sessão final, mas também nos encontros de pré-adoção, muitos participantes aproveitam para trocar contactos, para que estes se mantenham e, quem sabe, perdurem no tempo, trazendo
QUADRO 2. Número de ações de formação realizadas, número de participantes, avaliação das sessões, UAACAF ANO 2014 Número de ações de formação realizadas
Número de participantes
Avaliação*
Sessões A
10
228
3.55
Sessões B
8
108
3.60
Sessões C
15
48
3.63
Encontros pré-adoção
5
28
3.93
Total
38
412
3.68
* Numa escala de 1 a 4 em que 1 é “Insatisfeito” e 4 é “Muito satisfeito”
106
098-107.indd 106
28/08/15 11:56
| SOCIAL |
QUADRO 3. Número de previstos e de participantes efetivos na Sessão A, Sessão B, Sessão C e Encontros de pré-adoção , UAACAF ANO 2014 Sessão A
Sessão B
Sessão C
Encontros pré-adoção
Total
Previstos
287
124
48
29
488
Participantes
228
108
48
28
412
%
79
87
100
98
84
muitos e bons frutos. A experiência tem mostrado que muitos assim o fizeram e ainda o fazem, promovendo encontros entre eles já depois da adoção decretada, proporcionando-se desta forma o convívio entre filhos e pais, quer em momentos festivos – tais como festas de aniversário ou outros –, quer noutros momentos familiares – tais como sejam uma ida ao parque infantil no fim-de-semana. Os técnicos da UAACAF fazem questão de manifestar que a disponibilidade se mantém para além do acompanhamento em pré-adoção, podendo mesmo virem a ser mediadores de futuros encontros. Também o interesse e disponibilidade de acompanhamento em pós-adoção é uma realidade. Pensar formação em adoção é também ter presente que, para os técnicos que se dedicam a esta área, a formação fortalece e acresce aprendizagens e competências para um melhor saber-fazer. Para terminar, partilhamos o que uma família nos ofereceu ao concluir o acompanhamento em pré-adoção: “Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” (O Principezinho, de Saint-Exupéry).
PENSAR FORMAÇÃO EM ADOÇÃO É TAMBÉM TER PRESENTE QUE A FORMAÇÃO FORTALECE E ACRESCE APRENDIZAGENS E COMPETÊNCIAS PARA UM MELHOR SABER-FAZER”
BIBLIOGRAFIA DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS/UNIDADE DE INFÂNCIA E JUVENTUDE/ SETOR DA ADOÇÃO – Manual de intervenção dos organismos de Segurança Social na adopção de crianças. Lisboa: Instituto da Segurança Social, 2014. NUNES, M. I. – Desafios familiares: parentalidade adoptiva e parentalidade biológica. Lisboa: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação – Universidade de Lisboa, 2008. RICART, E. M. – Adopción y vínculo familiar. Barcelona: Fundació Vidal i Barraquer, 2005. ROCHA, M. B. – Ideias e crenças sobre a adopção: estudo com candidatos e pais adoptivos. Porto: Faculdade de Ciências e Psicologia do Porto, 2009. SCHETTINI, S. S., AMAZONAS, M. C.; DIAS, C. M. – Famílias adoptivas: identidade e diferença. Psicologia em Estudo. N.º 11 (2), 2006, pp. 285-293. [Consult. 20 dezembro 2014]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n2/ v11n2a06.pdf.
107
098-107.indd 107
28/08/15 11:56
| ESTUDO |
PRÉ-PUBLICAÇÃO
O IMPACTE DA DEFICIÊNCIA
nas relações familiares Texto de Graça Sobral, Filomena Raposo, Helena Valagão, Ana Fernandes, Anabela Rocha e Lina Soares [SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO_SCML] , com supervisão do Professor Doutor José Gameiro e colaboração do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Professora Doutora Paula Pinto
108
Untitled-14 108
28/08/15 11:57
| SAÚDE |
A equipa do Serviço Social do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão realizou um estudo acerca do impacte da deficiência nas relações familiares. A Cidade Solidária apresenta um excerto dessa investigação, que acompanhou famílias e utentes ao longo de três anos.
C
omo se reorganizam as famílias após o surgimento da deficiência, seja ela congénita ou adquirida? Quais as atitudes face à deficiência na esfera familiar e social? Quais os modelos de organização do quotidiano doméstico nas famílias com um elemento portador de deficiência? Estas são algumas das questões às quais pretende dar resposta o recente estudo levado a cabo pela equipa do Serviço Social do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA). A Cidade Solidária apresenta, em pré-publicação, um excerto da investigação que será divulgada na íntegra, em breve, no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O estudo incidiu sobre 46 famílias com um elemento portador de deficiência – com idades entre os zero e os 65 anos – acompanhadas pelos técnicos do Serviço Social do CMRA, ao longo de um período de três anos. A FAMÍLIA: PERSPETIVA SISTÉMICA O papel da família é decisivo no processo de reabilitação. Da sua atitude perante a deficiência dependerá, em parte, o sucesso terapêutico. Deduz-se daqui ser necessário e importante dispensar uma correta atenção à família, tendo em consideração todas as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Com efeito, ao longo das últimas décadas a família tem sofrido profundas alterações. Este processo de mudanças no seio da família assenta na sua relação com a sociedade, tendo impacte nas relações dos seus membros. A família representa e manifesta valores éticos e culturais de solidariedade e de convivência, essenciais para o ser humano. As suas responsabilidades implicam um contributo ativo para o bem-estar dos
seus membros (CUNHA, 1998). De facto, a família é vista, quase sempre, enquanto principal reduto de suporte em caso de vulnerabilidade, sobretudo na doença (GUADALUPE, 2012). Numa ótica sistémica, a família é considerada um sistema sociocultural aberto para o exterior e para o interior em função de um fim: garantir a sobrevivência dos elementos da família e satisfazer as suas necessidades. De acordo com Sampaio e Gameiro (1985), “a família é considerada um sistema, isto é, um conjunto de elementos ligados por um conjunto de relações, em contínua relação com o exterior e mantendo o seu equilíbrio ao longo de um processo de desenvolvimento, percorrido através de estádios de evolução diversificados”. A família pode ser vista como um sistema adaptativo complexo, isto é, que muda constantemente na sua estrutura e organização, de forma descontínua. Minuchin (1979) refere que “a família é como um sistema aberto, em relação dinâmica com o exterior” e que “a estrutura familiar é um conjunto de solicitações funcionais que organizam os modos como interagem os membros de uma família”. Os elementos da família regem-se por normas transacionais, por vezes inconscientes, que mantêm a estabilidade do sistema. Andolfi (1980) mencionou que este “sistema aberto, que é a família, está em interação com outros sistemas”. O seu equilíbrio resulta assim da homeóstase e da capacidade de transformação. No interjogo destas funções está o duplo processo do sistema familiar: a continuidade e o crescimento. Assim, poderemos distinguir os sistemas familiares flexíveis ou rígidos dependendo, segundo Andolfi (1980), “da sua capacidade ou não para evoluir e transformar-se, mantendo porém, a homeóstase”. 109
Untitled-14 109
28/08/15 11:57
| ESTUDO |
O ESTUDO INCIDIU SOBRE 46 FAMÍLIAS COM UM ELEMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ACOMPANHADAS PELOS TÉCNICOS DO SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO, AO LONGO DE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS” FAMÍLIA FUNCIONAL E FAMÍLIA DISFUNCIONAL A família como sistema existe em interação com outros sistemas – família alargada, amigos, escola, vizinhos, etc. –, numa relação circular que afeta a sua organização, não devendo por isso ser muito aberta nem muito fechada. No entanto, se ela nos surge muito permeável ou, no outro extremo, muito rígida, a família apresenta-se com um padrão disfuncional. Segundo Minuchin (1979), uma família normal não se define pela ausência de problemas, mas sim porque respeita alguns requisitos: • a estrutura familiar é um sistema sociocultural aberto, em processo de transformação; • a família manifesta desenvolvimento, deslocando-se através de certo número de etapas, que exigem uma reestruturação; • a família adapta-se às circunstâncias ambientais (uma doença, por exemplo), de tal modo que mantém uma continuidade e fomenta o crescimento psicossocial de cada membro.
Os sistemas familiares têm dois tipos principais de funções: • uma função interna, que tem em vista assegurar a proteção material e psicossocial dos seus membros, e facilitar o seu desenvolvimento, emancipação e integração na sociedade; • uma função externa, que visa permitir a adaptação dos seus membros a uma cultura e promover a transmissão dessa cultura às gerações seguintes. Uma família poderá, com maior ou menor facilidade, desempenhar estas funções ao longo da sua existência. Surgem assim as famílias funcionais – em que o desempenho global destas funções é facilitado por caraterísticas que permitem um funcionamento quotidiano relativamente fluido e sadio – e as famílias disfuncionais, em que, pelo contrário, existe uma grande dificuldade – ou até mesmo impossibilidade – de assegurar a totalidade destas funções, em virtude de o seu modo de funcionamento ser inadequado ou desajustado. FAMÍLIA E DEFICIÊNCIA Considera-se pessoa com deficiência, conforme o artigo 2.º da Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto, “aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas”. O aparecimento da deficiência provoca, na grande maioria das famílias, uma rutura do equilíbrio do sistema familiar. Esta “nova família” apresenta-se em crise, sendo muitas vezes incapaz de restabelecer a harmonia anterior. O fator essencial que determina o aparecimento da crise familiar face a uma deficiência é o desequilíbrio existente entre os recursos – biológicos, psicológicos, sociais e espirituais – do próprio sistema familiar e a vivência da deficiência. Perante a deficiência, as repercussões sobre a família podem variar, quer pela natureza da estrutura familiar quer pela maneira como a defi-
110
Untitled-14 110
28/08/15 11:57
| SAÚDE |
ciência se instalou e a gravidade e/ou severidade da doença. Quando esta se instala abruptamente, como sucede, por exemplo, nas situações de origem traumática, a família depara-se com o familiar que passa de uma situação de vida normal para uma outra, que pode ser de risco de vida, e só posteriormente é que vai aperceber-se da perda das suas capacidades. Quando a deficiência se instala lenta e progressivamente, como acontece, por exemplo, nas doenças degenerativas do sistema nervoso central, é habitualmente a própria família a constatar no dia-a-dia o aparecimento progressivo das dificuldades, tomando consciência do risco de vida, vivendo permanentemente com o fantasma da dependência e da morte. Por outro lado, há ainda a considerar as repercussões familiares quando a deficiência é congénita. Nestes casos, tudo o que se tinha idealizado para a criança esperada não corresponde ao filho nascido. Para estes pais, o bebé diferente que nasceu não foi o bebé que tinham planeado, nem com quem tinham sonhado. Este não era o bebé para quem tantos planos fizeram. A dor que ambos vivem, a sensação de perda e de falha, vai levar a uma procura desesperada de uma razão, de uma explicação, de uma culpa. É frequente os pais culparem-se mutuamente, por acharem que na família do outro é que existem problemas, ou porque o outro fez ou deixou de fazer algo. Estas vivências parentais perante um filho diferente mostram-nos que cada um, à sua maneira, se encontra em crise.
“Foi o caos! Foi uma reviravolta total, à qual ainda nos estamos a adaptar.” [mãe de criança com paralisia cerebral (PC)]
“A reação foi péssima! Não foi fácil ouvir e ver, porque não estávamos preparados. Uma coisa é termos conhecimento e irmo-nos mentalizando, outra coisa é não sabermos de nada e depararmo-nos com uma situação assim, depois de tantos exames e não detetarem nada.” [mãe de criança com spina bifida]
“O meu marido ficou transtornado, como eu.” [mãe de criança com PC]
“Mudei muita coisa, porque a gente faz uns planos e depois tem de fazer outros.” [mãe de criança com atraso de desenvolvimento psicomotor]
“Fomos apanhados de surpresa! Nem sabia o que era spina bifida, não tínhamos informação, porque nada nos foi dito. Uma coisa é os pais saberem que o bebé vai nascer com isto ou isto, outra coisa é não saberem de nada.” [mãe de criança com spina bifida]
A FAMÍLIA PODE SER VISTA COMO UM SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO, ISTO É, QUE MUDA CONSTANTEMENTE NA SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO, DE FORMA DESCONTÍNUA”
“A primeira adaptação – e essa é que custa – é quando saímos daquele mundo que imaginámos quando estávamos grávidas. Acho que todas as mães devem passar por essa fase, de pensar: o meu filho vai ser isto ou aquilo, como é que ele é, como não é… Essa é a primeira adaptação.
111
Untitled-14 111
28/08/15 11:57
| ESTUDO |
A partir daí, é um dia de cada vez, não há grandes planos para nada. Não sei se ele vai falar daqui a um ano, se daqui a dois… Sei que vai falar.” [mãe de criança com atraso de desenvolvimento psicomotor e epilepsia]
“Reagi mal. Ainda agora penso que é mentira.” [mãe de criança com encefalopatia]
O DESAFIO DE VIVER UMA DOENÇA NA FAMÍLIA É TANTO MAIOR QUANTO MAIS INESPERADAMENTE SURGIR, QUANTO MAIOR FOR A GRAVIDADE QUE APRESENTE NA SUA EVOLUÇÃO E QUANTO MAIS ELEVADO O GRAU DE INCAPACIDADE QUE TROUXER PARA O INDIVÍDUO” A família, ao receber o impacte de um diagnóstico, sente como se todo o mundo desabasse sobre ela. O caos impregna toda a família. O desafio de viver uma doença na família é tanto maior quanto mais inesperadamente surgir, quanto maior for a gravidade que apresente na sua evolução e quanto mais elevado o grau de incapacidade que trouxer para o indivíduo. Numa perspetiva sistémica, a doença pode ser encarada como fonte exógena de stress para a família (GUADALUPE, 2012). “Tive a pior reação, odiava o mundo, não acreditava em nada. Não dá para acreditar no que nos
está acontecer, perguntamo-nos: porquê a nós? Os filhos também ficaram muito tristes, choravam, não queriam fazer nada, perguntavam: porque aconteceu isto ao pai?” [esposa de utente com lesão vertebromedular (LVM)]
”Os meus familiares ficaram em estado de choque, porque sou muito jovem e ninguém estava à espera que isto acontecesse. A cirurgia correu bem, mas quatro dias depois aconteceu isto [o AVC]. Foi um choque para mim, mas também para os outros, que foram apanhados de surpresa. Eles tinham falado comigo após a cirurgia e estava tudo bem. De repente, disseram-lhes que nem sabiam se eu me safava desta…” [utente com acidente vascular cerebral (AVC)] Nas famílias acompanhadas pela equipa de Serviço Social do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, pudemos notar que toda a crise familiar produz um aumento de tensão/stress dentro do seio familiar. Registámos ainda que, nas famílias funcionais, esta transformação se resolve de forma adequada, assumindo a nova situação e aceitando de forma coerente as possibilidades e limitações; enquanto nas famílias disfuncionais, a nova situação não é assumida, conduzindo a família a graves desequilíbrios. É um período bastante difícil e muito doloroso para a família, podendo esta atravessar diferentes fases até chegar ao equilíbrio: • Confusão • Negação • Culpabilização • Depressão • Aceitação Na fase da confusão, a família multiplica as consultas da especialidade. “Vem ao CMRA, ao pediatra, ao neurologista […], ao Hospital de São Francisco Xavier.” [mãe de criança com doença neuromuscular e hipotonia]
112
Untitled-14 112
28/08/15 11:57
| SAÚDE |
Trata-se de um período onde é frequente uma ambivalência de papéis familiares, o que contribui ainda mais para aumentar a ambiguidade e o caos. Em muitas situações, a família é levada ao polo transcendente, mobilizando-se em torno de um acréscimo de orações e promessas a Deus para obter a cura. “Não pensei que ia perdê-lo, tinha muita fé. Tinha fé, por mais que falassem que era grave, grave, grave… Sabia que Deus não me ia tirar o que me deu…” [mãe de criança com atraso de desenvolvimento psicomotor]
No período de negação, a família é incapaz de ter uma atitude construtiva relativamente à situação, acontecendo muitas vezes o minimizar ou o ocultar de dados importantes, bem como esquecer as prescrições/orientações.
“O pai sentiu revolta porque, depois de tantos exames, não conseguiram detetar nada.” [mãe de criança com spina bifida]
“No início, nem queria acreditar. Depois pensei que ele não sobrevivesse. O meu marido não está a reagir muito bem, está revoltado.” [mãe de criança com atraso de desenvolvimento psicomotor]
“A fase em que a minha mãe entrou também em depressão foi um período complicado. A equipa que a acompanhava considerava que a limitação da mobilidade se devia ao facto de ela se recusar a fazer determinadas coisas.” [filha de utente com síndrome de Guillian-Barré]
TANTO O SENTIMENTO DA CULPABILIZAÇÃO COMO A DEPRESSÃO LEVAM, POR VEZES, A UMA SUPERPROTEÇÃO, EM QUE O ELEMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA É O CENTRO DA FAMÍLIA” “Estou a aceitar muito mal. Era uma pessoa muito ativa, tinha uma vida profissional que me preenchia, trabalhava até tarde, era independente, conduzia, ia para aqui e para ali sozinha, não precisava de ajuda de ninguém. E agora, neste momento, é o oposto. Não conduzo […]. Há uma primeira fase em que agradecemos estar vivos. Agora já passei essa fase e pergunto porque é que isto me aconteceu, porque é que não consigo fazer as coisas, porque é que o cérebro não continua a trabalhar como trabalhava. Não há explicação, se houvesse explicação não estava cá eu e outras pessoas em iguais circunstâncias. Por isso, é muito difícil adaptar-me à situação.” [utente com AVC]
“Quero voltar a ser independente, pegar no carro e ir sozinha para onde quiser. Quero andar pelo meu pé. Quero voltar a ter uma vida normal, fazer as coisas em casa e no trabalho sem estar a depender de terceiros. Quero ser eu a fazer o jantar, a fazer as camas, a pentear-me, a pôr o creme no braço direito. Quero ser eu a vestir roupa, sem ser o fato de treino… Vai fazer cinco meses no dia 26 de novembro de 2011 [que isto aconteceu] e está a ser difícil.” [utente com AVC]
113
Untitled-14 113
28/08/15 11:57
| ESTUDO |
Tanto o sentimento da culpabilização como a depressão levam, por vezes, a uma superproteção. O elemento portador de deficiência é o centro da família, à sua volta gira toda a atividade familiar e tudo o resto passa para um segundo plano.
POR VEZES, O ELEMENTO COM DEFICIÊNCIA CONVERTE-SE NUM SER EXIGENTE E DOMINANTE” “Talvez tenha passado a ter um sentimento de maior proteção em relação a ela.” [filha de utente com AVC]
“Na altura, pensei que não a conseguia proteger […], culpei-me a mim primeiro… Mas, depois, toda a gente me disse que não posso pensar assim.” [mãe de criança com síndrome de Angelman]
“Quando ele vai fazer os trabalhos de casa, eu e o irmão mais velho estamos mais com ele.” [mãe de criança com traumatismo cranioencefálico (TCE)]
“Sinto-me mais ansiosa em relação a ele e não o quero deixar com outras pessoas tantas vezes. Agora, tenho medo de o deixar com os avós. Os outros safam-se sozinhos. Eu sei que ele também, mas sinto-me mais ansiosa.” [mãe de criança com TCE]
“A vida é mais difícil do que era antes do acidente, por causa da dependência.” [mãe de jovem com LVM]
Por vezes, o elemento com deficiência converte-se num ser exigente e dominante. Pouco a pouco, a família sente-se aprisionada e abafada pelos seus pedidos e exigências.
“Atualmente é muito complicado. Também tenho outra filha que precisa de mim e, quando venho aqui [ao CMRA] às consultas, chega-se ao fim do dia e é muito desgastante.” [mãe de criança com doença neuromuscular]
“O dia começa muito cedo e há sempre muitas coisas para fazer. Acabo por não ter descanso. Costumo dizer que tenho saudades de trabalhar, porque nessa altura estava mais descansada do que estou neste momento.” [mãe de criança com PC]
“Toda a família se reorganizou para acudir à situação. Depois, vamos ver como será.” [esposa de utente com AVC]
“Obviamente que há alterações, está tudo concentrado no que ele precisa, no que ele quer e não quer. Para ele se levantar, todas as pessoas vêm ajudar; fazemos a comida que ele gosta...” [esposa de utente com AVC]
“Não deito para trás. Não falo, mas olho para ele e penso em tudo. Esquecer vai ser complicado. Se calhar, com os outros familiares passa-se o mesmo. Tenho medos mas também amadureci”. [mãe de criança com TCE]
A atitude “normal” perante a deficiência passa habitualmente por algumas das fases atrás descritas, até a família conseguir “aceitar” a realidade da situação. A família tem consciência de que não se operam milagres, mas também não fica de “braços
114
Untitled-14 114
28/08/15 11:57
| SAÚDE |
A FAMÍLIA TEM CONSCIÊNCIA DE QUE NÃO SE OPERAM MILAGRES, MAS TAMBÉM NÃO FICA DE ‘BRAÇOS CRUZADOS’. HÁ QUE ATUAR, MAS SEM SAIR DOS LIMITES DA REALIDADE” cruzados”. Há que atuar, mas sem sair dos limites da realidade. “No fundo, sinto um bocadinho de tristeza porque isto aconteceu. Mas o que é que posso fazer?” [mãe de criança com PC]
“Tenho um espírito muito positivo e, às vezes, era eu que tinha de dar força aos meus familiares. Por isso acabei por conseguir reagir bem, dentro da gravidade da minha situação.” [utente com LVM]
é uma casa grande, o que permite que ele faça caminhadas.” [esposa de utente com AVC]
“Ele está muito bom mas, daqui a dois ou três anos, vai estar muito melhor, dado que tem muita força de vontade. Tenho muita fé nisso.” [mãe de criança com TCE]
“Ele continua a lutar, tal como todos os irmãos. Em cada dia tem um sucesso diferente. Tem conseguido tudo o que quer e vai continuar a conseguir.” [mãe de criança com TCE]
“Espero que as coisas não regridam. Acho que o pior já passou. Não penso muito a longo prazo, mas penso que vai correr tudo bem.” [mãe de criança com TCE]
“Toda a gente ficou muito contente com os progressos dela. As pessoas ficaram admiradíssimas. Quando a veem perguntam: como é possível?” [mãe de criança com TCE]
BIBLIOGRAFIA ANDOLFI, Maurizio – A terapia familiar. Lisboa: Edi-
“Sempre, desde o primeiro dia, disse que ele ia recuperar. Pior do que o estado em que ele estava, só morrer. Por isso, aceitava qualquer situação em que ele ficasse. Sempre aceitei e apoiei-o, tal como farei agora.” [esposa de utente com AVC]
torial Veja, 1980. CUNHA, Rui – Políticas para a conciliação trabalho família. In GUERREIRO, Maria das Dores – Trabalho, famílias e gerações. Lisboa: CIES/ISCTE, 1998. GUADALUPE, Sónia – A intervenção do Serviço Social na saúde com famílias e em redes de suporte social. In CARVALHO, Maria Irene (coord.) – Serviço Social na Saúde. Lisboa: Edições Pactor, 2012.
“No princípio pensei que fosse muito pior, quase que me assustava. Depois, quando ele foi a primeira vez a casa, já tinha feito algumas adaptações para facilitar a vida dele e a minha também. Depois disso senti que talvez não fosse assim tão complicado. A minha casa também reúne algumas condições:
Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto. Diário da República n.º 194, Série I-A, pp. 5232-5236. MINUCHIN, Salvador – Famílias: funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Editora Gráfica Metrópole, 1979. SAMPAIO, Daniel; GAMEIRO, José – Terapia Familiar. Lisboa: Edições Afrontamento, 1985.
115
Untitled-14 115
28/08/15 11:57
| TERAPÊUTICA |
TRATAMENTO INAPROPRIADO NO
DOENTE IDOSO Texto de Maria Augusta Soares [PROFESSOR AUXILIAR_ FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA; VENCEDORA DO PRÉMIO NUNES CORRÊA VERDADES DE FARIA 2013 RELATIVO AO PROGRESSO NA MEDICINA NA SUA APLICAÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS, PELO SEU TRABALHO JUNTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA GESTÃO TERAPÊUTICA DO DOENTE GERIÁTRICO]
116
Untitled-15 116
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
O doente idoso obriga a cuidados redobrados na prescrição da terapêutica farmacológica. Um estudo acerca do uso de medicamentos por idosos da região de Lisboa verificou que mais de um terço estava a tomar pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado.
INTRODUÇÃO onsidera-se idoso um indivíduo com 65 ou mais anos, embora se admita que qualquer limite cronológico para definir idoso seja arbitrário, por não traduzir com exatidão a realidade biológica, física e psicológica da evolução de cada ser humano (INE, 2002). Geralmente, o envelhecimento está associado à presença de várias patologias e consequentemente à polimedicação, que aumenta o risco de redução de segurança da terapêutica nestes doentes com predisposição para a ocorrência de interações e reações adversas, pelo que a terapêutica do doente geriátrico requer cuidados especiais por parte dos profissionais de saúde. O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas (2006) da Direção-Geral da Saúde (DGS) reflete a importância que Portugal atribui ao idoso e à sua saúde, tendo em conta o envelhecimento da população portuguesa e os desafios que este coloca aos governos, às famílias e à sociedade (DGS, 2006). Em junho de 2008, o Governo elegeu as necessidades dos idosos como um dos desafios prioritários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), admitindo que a criação da Rede de Cuidados Continuados seria importante para a saúde em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 1960 e 2001, o envelhecimento em Portugal conduziu a uma redução de 36% da população jovem e a um aumento de 140% da idosa, correspondentes a um acréscimo de 8,0% para 16,4% na população geriátrica em relação à total, proporção que atingiu 17% em 2005. As projeções demográficas
C
do INE estimam que a proporção da população idosa atinja, em 2050, 32% do total da população, podendo a população jovem atingir os 13% (INE, 2007; INE, 2002). O aumento da proporção da população idosa reflete-se nos sistemas de saúde, requerendo atenção específica dos profissionais de saúde. SAÚDE DO IDOSO Na população geriátrica, a prevalência de problemas de saúde é elevada e, de acordo com o Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), cerca de 40% dos idosos apresentavam alguma limitação na sua atividade por problemas de saúde e quase 50% referiram possuir problemas de saúde de longa duração. Foi comum a referência a doenças crónicas e sintomas. Mais de dois terços dos inquiridos tinham diagnóstico de, pelo menos, uma doença e cerca de 40% reportaram duas ou mais doenças crónicas (WHO, 2007). Em Portugal, de acordo com os resultados do 4.º Inquérito Nacional de Saúde de 2005/2006, 53,4% da população considerava o seu estado de saúde como muito bom ou bom, apreciação que decrescia proporcionalmente com o aumento da idade. Uma percentagem de 47% dos indivíduos entre 45 e 74 anos consideravam o seu estado de saúde como razoável e 46% dos inquiridos com idades de 75 anos ou superiores consideravam-no como mau ou muito mau. Analisando o mesmo inquérito, a doença crónica mais frequentemente reportada era a hipertensão, referida por 19,8% dos indivíduos, seguindo-se a doença reumática e a dor crónica, reportadas por 16% dos inquiridos (INE, 2008). 117
Untitled-15 117
28/08/15 11:59
| TERAPÊUTICA |
ALTERAÇÕES ASSOCIADAS AO ENVELHECIMENTO E AO MEDICAMENTO O processo de envelhecimento é acompanhado de alterações fisiológicas, metabólicas e funcionais que predispõem para modificações na resposta aos fármacos, como consequência de alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Em termos gerais, existem alterações celulares, termorreguladoras, cutâneas, musculares, posturais, nas funções nervosas, nos órgãos dos sentidos, nas funções cardiovascular, renal e outras. Note-se, contudo, que a evolução para o envelhecimento varia em cada pessoa, havendo as que
medicamento no idoso varia com o doente e com o medicamento, havendo alguns medicamentos que são considerados potencialmente inapropriados no idoso, isto é, em que o aumento de risco para o idoso é superior, devendo ser evitados, a menos que não haja alternativa terapêutica (KATZUNG, 2007). REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS NOS IDOSOS E CONSEQUÊNCIAS Nos Estados Unidos da América cerca de 28% dos internamentos hospitalares de idosos resultam de problemas relacionados com os medicamentos,
EM 2008, O GOVERNO PORTUGUÊS ELEGEU AS NECESSIDADES DOS IDOSOS COMO UM DOS DESAFIOS PRIORITÁRIOS DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE apresentam rapidamente degradação das suas funções orgânicas e outras que não. Face às alterações complexas do envelhecimento, investigadores consideraram que existem medicamentos que devem ser evitados no idoso ou que só devem ser utilizados quando não existirem alternativas mais seguras. Nestas circunstâncias, tem sido recomendado que o prescritor tenha uma atenção especial na instituição da terapêutica a estes doentes e que só o faça após avaliação cuidada da relação benefício/ risco de cada medicamento (BEERS, 1989). As alterações mais importantes observadas no uso dos medicamentos durante o envelhecimento registam-se a nível da distribuição, metabolismo e eliminação, principalmente renal; situações que podem conduzir à acumulação do medicamento e ao aumento da sua atividade e/ou toxicidade. As interações entre os medicamentos e aumento da sensibilidade dos doentes podem aumentar o risco de reações adversas, reduzindo mais a segurança do medicamento. O organismo e os medicamentos comportam-se de forma variada face ao envelhecimento, razão pela qual a redução de segurança do
dos quais 70% são reações adversas, muitas das quais evitáveis (NOBLE, 2003). As reações adversas constituem um problema de saúde pública em termos de morbilidade, mortalidade e custos, podendo conduzir a hospitalizações ou ao seu prolongamento (SHELTON, 2000). De acordo com Gurwitz e Avorn, mais do que a idade cronológica, as alterações funcionais e fisiológicas do doente são determinantes para a ocorrência de reações adversas (FLAMMIGER, 2006), tendo sido sugerido que a incidência de reações adversas no idoso atinge o dobro da população jovem, apontando como causas para a sua ocorrência: idade, polimedicação, erros de prescrição, interações, contraindicações e utilização de medicamentos potencialmente inapropriados. Como fatores relacionados com o prescritor, foram considerados os erros cometidos por este não ter considerado as alterações farmacocinéticas do idoso, as suas diversas patologias e as interações que podem ocorrer (PETRONE, 2005; HAMMERLEIN, 1998; RASK, 2005; ROUTLEDGE, 2003; PEYRIERE, 2003; DENNEBOOM, 2006).
118
Untitled-15 118
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
Admite-se que a redução das reações adversas possa ser conseguida com a formação e informação aos profissionais e doentes, o aumento da monitorização e utilização de sistemas informáticos que alertem o médico quanto a interações e doses, e a necessidade de vigilância do doente, quando da prescrição (PETRONE, 2006; RASK, 2005). A melhor forma de prevenção do risco dos doentes consiste na redução do número de medicamentos prescritos – limitando-os aos indispensáveis –, na prestação da explicação sobre o uso seguro dos medicamentos, na limitação da duração da terapêutica e na reavaliação periódica do doente (MERLE, 2005).
priados estavam associados a hospitalizações agudas dos idosos (KLARIN, 2005). Foram observadas taxas de incidência de reações adversas que causaram hospitalização de 7,2% por Lagnaoui et al., sendo mais comuns as reações a nível neurológico, renal e hematológico e os fármacos mais frequentemente envolvidos foram do foro cardiovascular e psicotrópicos; os doentes que sofriam reações adversas tomavam maior número de medicamentos do que os que não as possuíam. Foi estimado que 57,9% das reações poderiam ter sido evitadas e os doentes que as sofreram possuíam idades mais elevadas (PEYRIERE, 2003). Beijer et al. observaram que o idoso possuía um risco de hospitalização por
COMO O ENVELHECIMENTO CONDUZ A ALTERAÇÕES DE RESPOSTA AOS MEDICAMENTOS, OS DOENTES IDOSOS ESTÃO EM RISCO AUMENTADO DE REAÇÕES ADVERSAS E INTERAÇÕES QUE REDUZEM A SEGURANÇA Para o efeito, foi também recomendado que o médico esteja atento à utilização de medicamentos desnecessários e ao risco aumentado de reações adversas, interações e contraindicações (PETRONE, 2006). Dos grupos mais frequentemente envolvidos nas reações adversas nos idosos destacam-se as benzodiazepinas (WAGNER, 2004; SHELLY, 2006), antiagregantes plaquetários e anticoagulantes (BURESLY, 2005). Vários são os estudos que demonstram a insegurança dos medicamentos nos idosos quando não são tomados cuidados específicos. Numa meta-análise realizada nos EUA entre 1966 e 1996, observou-se uma incidência anual de 6,7% de reações adversas que causaram a hospitalização ou incapacidade. Lazarou et al. observaram que as reações adversas se situaram entre a quarta e a sexta causas de morte, após o cancro e a doença cerebrovascular (PEYRIERE, 2003). Na Suécia, Klarin et al. concluíram que a polimedicação e o uso de medicamentos inapro-
reações adversas quatro vezes superior aos jovens (16,6% versus 4,1%), e que grande parte poderia ter sido evitada (BEIJER, 2002). Juntti-Patinen et al. estudaram as mortes relacionadas com medicamentos num hospital, tendo sido as hemorragias gastrointestinais ou intracranianas pela varfarina, anti-inflamatórios não esteroides, heparina, alteplase ou reteplase as mais comuns, com uma incidência de reações adversas fatais de 5% em todas as mortes (JUNTTI-PATINEN, 2002). Foi analisado por Buajordet et al. o perfil de morbilidade e os regimes associados a reações adversas fatais em doentes internados, tendo sido observada uma incidência elevada de reações adversas fatais associada à idade elevada, às comorbilidades e à polimedicação. Os medicamentos mais frequentemente associados foram os broncodilatadores, vasodilatadores e associações de antitrombóticos (BUAJORDET, 2001). 119
Untitled-15 119
28/08/15 11:59
| TERAPÊUTICA |
MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS Beers considerou que um medicamento pode ser inapropriado ao idoso por ser: • utilizado quando não o deveria ser (uso excessivo); • mal escolhido, dose ou esquema desajustado ou duração desadequada (mau uso); • omitido (subutilização) (BEERS, 2000). Para Beers et al. alguns medicamentos deveriam ser evitados no idoso porque podem ocasionar reações adversas mais frequentes como confusão, queda, depressão, sedação, deterioração funcional, incontinência ou retenção urinária, tendo recomendado que a relação benefício/risco fosse avaliada antes da prescrição e da utilização de medicamentos por este grupo etário (BEERS,
mentos. Os critérios de Beers são constituídos por tabelas de medicamentos inapropriados, dos que não devem ser utilizados ou que o sejam com precaução, sendo que uma tabela diz respeito a medicamentos inapropriados face a patologias que os doentes possuam (BEERS, 1997 e 2003; AGS, 2012). Outros autores criaram critérios de medicamentos potencialmente inapropriados. No entanto, os critérios de Beers têm sido os mais utilizados. Considerando a existência de diferentes práticas clínicas e medicamentos comercializados nos vários países, foram operacionalizados os critérios de Beers de 2002 para Portugal, para que pudessem ser aplicados mais efetivamente no nosso país (SOARES, 2008).
DOS GRUPOS MAIS FREQUENTEMENTE ENVOLVIDOS NAS REAÇÕES ADVERSAS NOS IDOSOS DESTACAM-SE AS BENZODIAZEPINAS, ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES 1989; CONN, 1991). Face a esta preocupação os autores construíram uma escala – designada critérios de Beers – destinada a avaliar a prescrição potencialmente inapropriada a que os doentes geriátricos estavam sujeitos e para ser utilizada pelos prescritores para evitar essas substâncias. CRITÉRIOS PARA AVALIAR A PRESCRIÇÃO POTENCIALMENTE INAPROPRIADA Beers et al. criaram critérios para aplicação nas populações geriátricas sobre medicamentos inapropriados aos idosos, tendo-os definido como aqueles que devem ser evitados nos idosos, estipulando ainda as doses ou frequência das tomas que não deveriam ser excedidas e os medicamentos a evitar na presença de determinadas patologias. Estes critérios são atualizados regularmente face à evolução dos medicamentos e conheci-
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS POR IDOSOS PORTUGUESES O objetivo do estudo foi o de analisar e caraterizar o perfil farmacoterapêutico de doentes geriátricos, visando a avaliação do uso de medicamentos potencialmente inapropriados. Realizou-se um observacional de orientação transversal numa população por conveniência de idosos, clientes de 15 farmácias da zona de Lisboa, avaliando-se a terapêutica quanto a medicamentos potencialmente inapropriados, utilizando os critérios de Beers operacionalizados para Portugal. A recolha de dados foi efetuada por entrevistadores treinados, com a aplicação de um questionário estruturado, de outubro de 2006 a maio de 2007. O questionário recolheu dados demográficos, clínicos, medicamentos e adesão à terapêutica.
120
Untitled-15 120
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
FOI CONSTRUÍDA UMA ESCALA – DESIGNADA CRITÉRIOS DE BEERS – DESTINADA A AVALIAR A PRESCRIÇÃO POTENCIALMENTE INAPROPRIADA A QUE OS DOENTES GERIÁTRICOS ESTAVAM SUJEITOS Aplicaram-se vários instrumentos que permitiram caraterizar a terapêutica destes doentes. No entanto, apresentam-se apenas os resultados relativamente ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados pelos critérios de Beers. Foram estudados 570 doentes com idades entre os 65 e os 100 anos (média de 74,1 anos (SD=6,4)). Destes, 407 doentes (71,7%) eram mulheres e o número médio de patologias por doente era de 4,4 (SD=2,2) (0-12). Possuíam doença cardiovascular 511 (89,6%), osteoarticular 341 (59,8%), oftálmica
338 (59,4%), digestiva 203 (35,6%), respiratória 128 (22,5%) e ótica 124 (21,8%). Foram ainda referidas doença renal, hepática, dermatológica, do sistema nervoso central, geniturinária, hematológica, endócrina, oncológica, entre outras. Os medicamentos tomados por doente iam de 1-13, com média de 5,3 (SD=2,5). Dos 3021 medicamentos identificados, 1352 (44,8%) destinavam-se ao sistema cardiovascular, 565 (18,7%) ao sistema nervoso central e 462 (15,3%) ao trato digestivo e metabólico. 121
Untitled-15 121
28/08/15 11:59
| TERAPÊUTICA |
Quanto à toma de medicamentos potencialmente inapropriados – face aos critérios de Beers de 2002 operacionalizados para Portugal em 2008 – e independentes da doença, verificou-se que 211 doentes (37,0%) tomavam, pelo menos, um medicamento inapropriado, pelo que apresentavam risco aumentado de sofrer reações adversas e redução de segurança. Dos 570 doentes, 154 (27%) tomavam um medicamento inapropriado, 47 (8,2%) dois medicamentos inapropriados e 10 (1,8%) três medicamentos inapropriados. Relativamente aos medicamentos, dos 2951 medicamentos avaliados, 282 (9,5%) eram inapropriados ao doente idoso. Verificou-se ainda que 21 doentes (3,7%) tomavam, pelo menos, um medicamento potencialmente inapropriado face à doença.
de prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados no país, idêntica à encontrada noutros estudos europeus e norte-americanos. A operacionalização dos critérios de Beers para Portugal constitui um instrumento adaptado aos medicamentos comercializados no nosso país, podendo facilitar a realização de estudos nacionais. Os critérios de Beers operacionalizados detetaram mais situações de uso de medicamentos potencialmente inapropriados do que outros critérios também utilizados – Zhan, McLeod –, sugerindo-se que sejam os utilizados ou, em sua alternativa, os critérios STOPP/START, adaptados à realidade europeia e criados posteriormente, razão pela qual não foram aplicados neste estudo (GALLAGHER, 2008).
A OPERACIONALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE BEERS PARA PORTUGAL CONSTITUI UM INSTRUMENTO ADAPTADO AOS MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS NO NOSSO PAÍS, PODENDO FACILITAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NACIONAIS Relativamente às classes terapêuticas que os doentes tomavam e que eram inapropriadas para o idoso, os medicamentos para o sistema nervoso eram os mais frequentes, com 159 medicamentos (5,4%) – sendo predominantemente benzodiazepinas –, seguindo-se os medicamentos para o aparelho locomotor (anti-inflamatórios não esteroides) com 50 medicamentos (1,7%); para o sangue, com 21 medicamentos (0,7%) (ticlopidina) e para o aparelho cardiovascular, com 21 medicamentos (0,7%). O grupo de doentes que tomava pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado possuía maior número de doenças e tomava um número superior de medicamentos em relação aos restantes. Os doentes estudados possuíam várias comorbilidades e estavam sujeitos a polimedicação crónica, sendo elevada a frequência
CONCLUSÕES O estudo realizado em doentes idosos em ambulatório permitiu concluir que a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados e, consequentemente, menos seguros para este grupo de doentes era uma realidade que atingia cerca de 40% dos idosos. Dada a vulnerabilidade dos idosos face a alguns medicamentos e às consequências de ocorrência mais frequente de reações adversas – que podem conduzir a hospitalizações e até serem fatais –, recomenda-se que os profissionais de saúde, particularmente o prescritor e o farmacêutico, tenham atenção particular e evitem a prescrição e dispensa destes medicamentos, podendo para tal aplicar os critérios de Beers operacionalizados para Portugal ou os critérios STOPP/START criados no âmbito europeu.
122
Untitled-15 122
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
BIBLIOGRAFIA BEERS, M.H. – Explicit criteria for determining potentially inappropriate medication use by the elderly. An update. Arch Intern Med. 1997, 157(14), pp. 1531-6. BEERS, M.H.; BARAN, R.W.; FRENIA, K. – Drugs and the elderly, Part 1: The problems facing managed care. Am J Manag Care. 2000, 6(12), pp. 1313-20. BEIJER, H.J.; DE BLAEY, C.J. – Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR): a meta-analysis of observational studies. Pharm World Sci. 2002, 24(2), pp. 46-54.
INE – População e Sociedade. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2007. INE – Anuário Estatístico de Portugal: 2007. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística; 2008. JUNTTI-PATINEN, L.; NEUVONEN, P.J. – Drug-related deaths in a university central hospital. Eur J Clin Pharmacol. 2002, 58(7), pp. 479-82. KATZUNG, B. – Basic and Clinical Pharmacology. 10.ª ed. New York: McGraw Hill-Lange; 2007. KLARIN, I.; WIMO, A.; FASTBOM, J. – The asso-
BUAJORDET, I. et al. – Fatal adverse drug events:
ciation of inappropriate drug use with hospitalisa-
the paradox of drug treatment. J Intern Med. 2001,
tion and mortality: a population-based study of the
250(4), pp. 327-41.
very old. Drugs Aging. 2005, 22(1), pp. 69-82.
BURESLY, K. et al. – Bleeding Complications As-
MERLE, L. et al. – Predicting and Preventing Ad-
sociated with Combinations of Aspirin, Thienopyri-
verse Drug Reactions in the Very Old. Drugs Aging.
dine Derivatives, and Warfarin in Elderly Patients
2005, 22(5), pp. 375-92.
Following Acute Myocardial Infarction. Arch Intern Med. 2005, 165, pp. 784-789.
NOBLE, R.E. – Drug therapy in the elderly. Metabolism. 2003, 52(10 Suppl. 2), pp. 27-30.
CONN, V.S.; TAYLOR, S.G.; KELLEY, S. – Medica-
PEYRIERE, H. et al. – Adverse Drug Events Associated
tion regimen complexity and adherence among older
with Hospital Admission. Ann Pharmacother. 2003,
adults. Image J Nurs Sch. 1991, 23(4), pp. 231-5.
37(1), pp. 5-11.
DENNEBOOM, W. et al. – Analysis of Polypharma-
PETRONE, K.; KATZ, P. – Approaches to Appro-
cy in Older Patients in Primary Care Using a Multi-
priate Drug Prescribing for the Older Adult. Prim
disciplinary Expert Panel. Br J Gen Pract. 2006, 56,
Care Clin Office Pract. 2005, 32(3), pp. 755-75.
pp. 504-10. DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, Divisão de Doenças Genéticas CeG – Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. Lisboa: DGS, 2006. FLAMMIGER, A.; MAIBACH, H. – Drug Dosage in the Elderly. Dermatological Drugs. Drugs Aging. 2006, 23(3), pp. 203-15. GALLAGHER, P. et al. – STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) and START (Screening
RASK, K.J. et al. – Can an algorithm for appropriate prescribing predict adverse drug events? Am J Manag Care. 2005, 11(3), pp. 145-51. ROUTLEDGE, P.; O’MAHONY, M.; WOODHOUSE, K. – Adverse Drug Reactions in Elderly Patients. Br J Clin Pharmacol. 2003, 57(2), pp. 121-6. SHELLY, L. et al. – Benzodiazepine Use and Physical Disability in Community-Dwelling Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2006, 54(2), pp. 224-30.
Tool to Alert Doctors to Right Treatment). Consen-
SHELTON, P.; FRITSCH, M.A.; SCOTT, M. – As-
sus validation. Int J of Clin Pharmacol and Ther. 2008,
sessing Medication Appropriateness in the Elderly.
46(2), pp. 72-83.
A Review of Available Measures. Drugs Aging. 2000,
HAMMERLEIN, A.; DERENDORF, H.; LOWEN-
16(6), pp. 437-50.
THAL, D. – Pharmacokinetic and Pharmacodynamic
WAGNER, A.K. et al. – Benzodiazepine use and hip
Changes in the Elderly. Clinical Implications. Clin
fractures in the elderly: who is at greatest risk? Arch
Pharmacokinet. 1998, 35(1), pp. 49-64.
Intern Med. 2004, 26, 164(14), pp. 1567-72.
INE – O Envelhecimento em Portugal: Situação Demográfica e Socioeconómica Recente das Pessoas Idosas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2002.
123
Untitled-15 123
28/08/15 11:59
| ENFERMAGEM |
PROFILAXIA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO NO DOENTE ORTOPÉDICO
Texto de Inês Fernandinho [ENFERMEIRA; ENFERMARIA DO SERVIÇO 1, HOSPITAL ORTOPÉDICO DE SANT’ANA_SCML]
124
Untitled-16 124
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
Alguns doentes ortopédicos apresentam um risco acrescido de fenómenos de tromboembolismo venoso. Muitas vezes, a profilaxia é determinante para um bom prognóstico, sendo o enfermeiro uma peça fundamental para que o doente do foro ortopédico adote medidas preventivas.
A
tromboprofilaxia é uma das medidas da prática médica com maior custo/ eficácia, sendo recomendada por numerosas organizações de saúde. As indicações para a prevenção do tromboembolismo venoso (TEV) requerem uma avaliação do doente em termos dos fatores de risco para o desenvolver, bem como do risco hemorrágico. No entanto, existem inúmeras barreiras à sua implementação, que se prendem com um desconhecimento das recomendações, com o receio em relação à segurança dos fármacos e ainda por alguma diminuição do sentido de responsabilidade multidisciplinar. O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão das recomendações sobre a profilaxia do TEV, bem como perceber qual o papel da enfermagem como elemento de uma equipa multidisciplinar nesta problemática. Na prática quotidiana como enfermeira do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – onde a cirurgia ortopédica major, bem como a cirurgia da fratura da extremidade proximal do fémur (FEPF) são uma prática recorrente –, surgiu a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre o TEV, essencialmente ao nível da prevenção, que é o nosso principal foco. É certo que estes doentes têm um risco acrescido de fenómenos de TEV e, como tal,
devemos estar sensibilizados para esta problemática, de modo a melhorarmos a qualidade dos cuidados ao doente. INTRODUÇÃO O TEV constitui um importante problema de saúde pública, dada a elevada morbilidade e mortalidade que acarreta. Estima-se que, na União Europeia, o TEV provoque cerca de 540 mil mortes/ ano1. Desde 1550 a.C. surgem definições de doença venosa. Em 1644, Schenk descreveu o fenómeno de trombose profunda e, em 1864, Virchow constatou a associação entre trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP)2. A TVP resulta da obstrução de uma veia profunda por um coágulo sanguíneo. Espasmos musculares e alterações na pressão intravascular podem fazer que o coágulo se desloque e se aloje num vaso pulmonar, surgindo a EP3. A profilaxia do TEV está demonstrada e tem um grande impacte a nível epidemiológico e económico. No entanto, continua a ser subpraticada. Para ultrapassar todos os entraves à sua implementação é imperativa a reflexão sobre o TEV e sua epidemiologia, sobre a importância da sua profilaxia – tendo em conta os fatores de risco do TEV e o risco de hemorragia –, bem como sobre o papel do enfermeiro como elemento de uma equipa multidisciplinar.
1. REIS, Abílio – “Tromboembolismo venoso – uma ‘praga’ ainda não dominada. Contributo dos novos anticoagulantes orais”. Revista Portuguesa de Cardiologia. N.º 29 (supl. II), 2010, pp. 23-31. Disponível em http://www.spc.pt/DL/RPC/artigos/1207.pdf. 2. ANTUNES, Susana Dias – “Trombose venosa profunda: mitos e realidades”. Revista Portuguesa de Clínica Geral. N.º 26, 2010, pp. 486-495. 3. MENCHE, Nicole; SCHÄFFLER, Arme – Medicina Interna e Cuidados de Enfermagem. Loures: Lusociência, 2004.
125
Untitled-16 125
28/08/15 11:59
| ENFERMAGEM |
QUADRO 1. Fatores de risco Estase venosa Doença cardíaca Desidratação Imobilidade Obesidade Gravidez Idade Cirurgia com duração superior a 45 minutos Lesão da parede venosa Traumatismo Infeção Cateteres centrais e periféricos, fios de pacemaker História de TVP Grande cirurgia Hipercoagulabilidade Alterações hemostáticas Traumatismo ou cirurgia Neoplasia Uso de contracetivos orais Desidratação
VIRCHOW DESCREVEU TRÊS FATORES QUE FAVORECEM O APARECIMENTO DE UM TROMBO, DESIGNADOS POR TRÍADE DE VIRCHOW: ESTASE VENOSA, LESÃO DA PAREDE VENOSA E HIPERCOAGULABILIDADE”
EPIDEMIOLOGIA A prevalência do TEV é desconhecida, uma vez que cerca de 50% dos casos são assintomáticos e 25% dos doentes com EP têm morte súbita como manifestação inicial da doença4. O ENDORSE foi um estudo que envolveu 68 183 doentes internados em 358 hospitais de 32 países, incluindo Portugal, para avaliação do cumprimento das recomendações do American College of Chest Physicans (ACCP) para a profilaxia do TEV. Este estudo veio constatar que, dos 52% de doentes com risco de desenvolver TEV, apenas 50% cumpriam as recomendações5. Em Portugal esta realidade não é muito diferente. Cerca de 52,7% dos doentes hospitalizados apresenta risco de TEV (68,9% de doentes cirúrgicos e 38,5% de não-cirúrgicos). E apenas 58,5% (59% de doentes cirúrgicos e 57,6% de não-cirúrgicos) receberam uma profilaxia adequada. Ainda se verificou que 38% dos doentes cirúrgicos ficaram expostos a riscos desnecessários ao receberem tromboprofilaxia sem que preenchessem os critérios6. FISIOPATOLOGIA O retorno venoso ao coração é suportado pela ação das válvulas, em conjunto com as contrações dos músculos das extremidades, que comprimem as veias, ajudando o sangue a dirigir-se ao coração7. Virchow descreveu três fatores que favorecem o aparecimento de um trombo, designados por tríade de Virchow: estase venosa, lesão da parede venosa e hipercoagulabilidade8. Os trombos desenvolvem-se em zonas de estase ou turbulência, a partir de plaquetas, fibrina, eritrócitos e leucócitos. Uma vez formado, o trombo pode deslocar-se até ao coração e pulmões. Os pulmões são ricos em heparina e ativadores de plasmina, mas
4. AMARAL, Cristina; TAVARES, Jorge – “Profilaxia do tromboembolismo venoso no doente cirúrgico: o papel da anestesiologia numa responsabilidade multidisciplinar”. Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. N.º 22, 2013, pp. 12-19. 5. Abílio Reis, op. cit. 6. Cristina Amaral; Jorge Tavares, op. cit. 7. GREEN, Carol J.; MONAHAN, Frances Donovan; MAREK, Jane F.; NEIGHBORS, Marianne; SANDS, Judith K. – Enfermagem Médico-Cirúrgica Phipps. Vol. II, 8.ª edição. Loures: Lusodidacta, 2007. 8. Susana Dias Antunes, op. cit.
126
Untitled-16 126
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
se o trombo não for devidamente dissolvido, pode alojar-se e provocar uma obstrução súbita ou progressiva dos vasos pulmonares. O desenvolvimento de uma EP é uma situação crítica, sendo uma das principais causas de morte súbita9. PROFILAXIA DO TEV A prevenção do TEV é fundamental, face à eficácia demonstrada da profilaxia, à natureza silenciosa da doença e à sua elevada prevalência e mortalidade10. Tendo em conta o elevado risco de TEV no doente submetido a cirurgia ortopédica major (artroplastia da anca e do joelho e cirurgia da FEPF) é recomendado efetuar a sua profilaxia, independentemente dos fatores de risco do doen-
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE UMA CHEK-LIST PROPOSTA PELO NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELENCE (NICE) PARA PONDERAÇÃO DO RISCO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO”
QUADRO 2. Check-list proposta pelo NICE RISCO DE TEV Fatores relacionados com o doente Neoplasia maligna ativa ou em tratamento (> 60 anos) Desidratação Trombofilia Obesidade Uma ou mais comorbilidades médicas significativas (história pessoal ou familiar em 1.º grau de TEV) Uso de contracetivos que contenham estrogénios; terapia hormonal de substituição Veias varicosas com flebites Gravidez ou parto há menos de seis semanas Fatores relacionados com o procedimento Mobilidade reduzida há mais de três dias; artroplastia da anca ou do joelho Fratura da extremidade proximal do fémur (tempo anestésico e cirúrgico > 90 minutos) Cirurgia envolvendo a pélvis ou membro inferior (tempo anestésico e cirúrgico > 60 minutos) Internamento em unidade de cuidados intensivos; cirurgia com redução significativa da mobilidade RISCO DE HEMORRAGIA Hemorragia ativa Doença hemorrágica adquirida; uso de anticoagulantes Punção lombar/epidural/raquianestesia realizada há menos de 4h ou esperada nas próximas 12h AVC hemorrágico; trombocitopenia; hipertensão não controlada Doença hemorrágica hereditária não tratada
9. Carol J. Green et al., op. cit. 10. Cristina Amaral; Jorge Tavares, op. cit.
127
Untitled-16 127
28/08/15 11:59
| ENFERMAGEM |
te, desde que não existam contraindicações. Nas outras cirurgias ortopédicas, a decisão de se proceder ou não à profilaxia baseia-se nos fatores de risco de desenvolver TEV. A prevenção deve ter em conta o risco de TEV e o risco de hemorragia, tendo como principal objetivo evitar o aparecimento de fenómenos tromboembólicos, sem que ocorram eventos hemorrágicos. Os fatores de risco para o desenvolvimento de TEV abrangem os fatores relacionados com o doente e os relacionados com o procedimento (cirúrgico ou outro).
A PREVENÇÃO DEVE TER EM CONTA O RISCO DE TEV E O RISCO DE HEMORRAGIA, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO EVITAR O APARECIMENTO DE FENÓMENOS TROMBOEMBÓLICOS, SEM QUE OCORRAM EVENTOS HEMORRÁGICOS” Atualmente ainda não estão validadas escalas de estratificação do risco de TEV. Deste modo, recomenda-se a utilização de uma chek-list proposta pelo National Institute for Health and Clinical Excelence (NICE) para ponderação do risco11. Nas artroplastias da anca e do joelho, a incidência de TVP em doentes não submetidos a tromboprofilaxia atinge os 40% a 60%. É importante também não esquecer que este risco permanece elevado pelo menos nos dois pri-
meiros meses do pós-operatório12. Sempre que não se verifique risco hemorrágico para o doente, a profilaxia farmacológica é o recomendado. Assim, na cirurgia eletiva da artroplastia da anca ou do joelho, os fármacos recomendados são: a heparina de baixo peso molecular (HBPM), fondaparinux, dabigatrano e rivaroxabano. Na cirurgia de FEPF, as opções terapêuticas são a HBPM e o fondaparinux. Na cirurgia ortopédica major, o preconizado é que a profilaxia farmacológica seja administrada por um período de 28-35 dias. Nas outras cirurgias ortopédicas, a profilaxia deve manter-se enquanto o doente apresentar uma mobilidade reduzida. Os métodos mecânicos servem de complemento aos farmacológicos ou passam por ser a solução nos doentes com risco hemorrágico. No entanto, estes métodos não são tão eficazes como os farmacológicos e obrigam a uma utilização rigorosa para que o seu efeito se aproxime do da profilaxia farmacológica. Os métodos mecânicos existentes são as meias de contenção elástica, os dispositivos de compressão pneumática intermitente dos membros inferiores e os dispositivos para compressão intermitente dos pés13. As meias elásticas proporcionam uma compressão constante e moderada, com diferentes graus de compressão ao longo dos membros inferiores. A compressão máxima é a nível do tornozelo (100%), reduzindo para 70% a meio da perna e para 40% a meio da coxa. Os dispositivos de compressão pneumática aplicam uma suave pressão intermitente ao nível dos membros inferiores, em intervalos regulares, por insuflação/desinsuflação de uma manga, promovendo o retorno venoso14. No entanto, existem algumas contraindicações ao uso destes métodos, como: doença arterial periférica,
11. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Direção-Geral da Saúde – Profilaxia do Tromboembolismo Venoso em Ortopedia. Norma n.º 026/2012, de 27/12/2012. 12. Cristina Amaral; Jorge Tavares, op. cit. 13. Ministério da Saúde, op. cit. 14. Carol J. Green et al., op. cit.
128
Untitled-16 128
28/08/15 11:59
| SAÚDE |
doente com bypass arterial periférico, neuropatia periférica, úlceras venosas ou feridas e edema grave dos membros inferiores15. O PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROFILAXIA DO TEV Os fenómenos de TEV são complicações comuns no doente do foro ortopédico, sendo a principal preocupação da enfermagem a prevenção da sua incidência. A imobilidade e o facto de o doente ser submetido a uma cirurgia ortopédica major são fatores que favorecem o risco de TEV. Muitas vezes, a profilaxia do TEV é determinante para um bom prognóstico. É importante identificar fatores de risco e avaliar/registar qualquer alteração a nível das extremidades quanto a sinais de dor, edema, eritema e calor. O enfermeiro tem um papel fundamental para que o doente adote medidas preventivas de eventos de TEV. Entre essas medidas, encontram-se o explicar da necessidade em reduzir o uso de manobras de Valsalva (uma vez que aumentam a pressão venosa)16 ou o incentivar e colaborar na realização do levante e marcha precoces, bem como na prática de exercícios ativos e passivos dos membros inferiores (melhora o retorno venoso das extremidades inferiores e previne a estase venosa). O enfermeiro será o responsável pela administração de terapêutica profilática ou pela colocação de meias de contenção elástica. Consoante as capacidades do doente/família/cuidador principal, deverão ser feitos ensinos ao responsável pela realização destas medidas após a alta hospitalar. Nem todos os fenómenos de TEV podem ser prevenidos, mas é sempre possível minimizar os riscos através destas medidas17. A realização de ações de formação – envolvendo todos os profis-
OS MÉTODOS MECÂNICOS SERVEM DE COMPLEMENTO AOS FARMACOLÓGICOS OU PASSAM POR SER A SOLUÇÃO NOS DOENTES COM RISCO HEMORRÁGICO.” sionais de saúde – e a realização de protocolos de prevenção, diagnóstico e tratamento são importantes para ultrapassar todas as barreiras e melhorar a qualidade de atuação em relação ao TEV18.
BIBLIOGRAFIA AMARAL, Cristina; TAVARES, Jorge – “Profilaxia do tromboembolismo venoso no doente cirúrgico: o papel da anestesiologia numa responsabilidade multidisciplinar”. Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. N.º 22, 2013, pp. 12-19. Disponível em http://www.spanestesiologia.pt/wp-content/uploads/2013/04/revista_SPA_22_1_WEB.pdf. ANTUNES, Susana Dias – “Trombose venosa profunda: mitos e realidades”. Revista Portuguesa de Clínica Geral. N.º 26, 2010, pp. 486-495. GREEN, Carol J.; MONAHAN, Frances Donovan; MAREK, Jane F.; NEIGHBORS, Marianne; SANDS, Judith K. – Enfermagem Médico-Cirúrgica Phipps. Vol. II, 8.ª edição. Loures: Lusodidacta, 2007. MENCHE, Nicole; SCHÄFFLER, Arme – Medicina Interna e Cuidados de Enfermagem. Loures: Lusociência, 2004. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Direção-Geral da Saúde – Profilaxia do Tromboembolismo Venoso em Ortopedia. Norma n.º 026/2012, de 27/12/2012. REIS, Abílio – “Tromboembolismo venoso – uma
15. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Direção-Geral da Saúde – Profilaxia do Tromboembolismo Venoso em Ortopedia. 16. Norma n.º 026/2012, de 27/12/2012. 17. Nicole Menche; Arme Schäffler, op. cit. 18. Cristina Amaral; Jorge Tavares, op. cit.
‘praga’ ainda não dominada. Contributo dos novos anticoagulantes orais”. Revista Portuguesa de Cardiologia. N.º 29 (supl. II), 2010, pp. 23-31. Disponível em http://www.spc.pt/DL/RPC/artigos/1207.pdf.
129
Untitled-16 129
28/08/15 11:59
| INVESTIGAÇÃO |
As antigas hagiografias de São Roque de Montpellier UMA QUESTÃO EM ABERTO
As pesquisas históricas sobre a vida de São Roque continuam a oferecer-nos algumas surpresas. Na última década, a descoberta de alguns documentos relevantes do século xv veio questionar as velhas teorias e abriu caminho a novas hipóteses. Texto de Paolo Ascagni [DIRETOR DO CENTRO STUDI ROCCHIANO _COMITATO INTERNAZIONALE DA ASSOCIAÇÃO ITALIANA SÃO ROQUE DE MONTPELLIER]
130
Untitled-17 130
28/08/15 12:00
| HISTÓRIA E CULTURA |
“P
oucos santos foram tão famosos como São Roque no Ocidente entre 1300 e 1600, período em que o seu culto se difundiu por todos os países europeus, tendo abrangido todas as camadas sociais. E, no entanto, sabe-se bem pouco desta misteriosa personagem, cuja realidade histórica chegou a ser posta em causa, devido à escassez de dados objetivos nas suas biografias”1. Esta frase significativa de André Vauchez, um dos mais ilustres estudiosos da Idade Média, continua a ser a introdução mais pertinente para qualquer obra dedicada à figura de São Roque de Montpellier, personagem tão fascinante nas suas numerosas expressões religiosas, culturais, artísticas e sociais, como inacessível, ou quase, na sua efetiva consistência histórico-biográfica. Com efeito, são poucos os dados rigorosos à nossa disposição, fugazes os elementos sólidos e fundamentados sobre os quais reconstruir uma biografia conforme as regras, demasiado distantes no tempo os acontecimentos que, de qualquer modo, determinaram a explosão em todo o mundo de um culto de entre os mais difusos em absoluto na milenária história do povo cristão. É um facto que, quando se fala da história dos santos em geral, não devemos cometer o erro de considerar as antigas Vitae a eles dedicadas como se de biografias se tratasse, no sentido moderno do termo. “Há que sublinhar logo” – explica-nos Hippolyte Delehaye – “a distinção entre a hagiografia e a história. A obra do hagiógrafo pode ser histórica, mas não necessariamente [...]. Não devemos esquecer de ter em conta uma outra circunstância que nos faz entender melhor a condição do hagiógrafo na Idade Média. Ele conhece dois tipos de livros: aqueles em que se é obrigado a acreditar – a Sagrada Escritura em todas as suas partes – e os restantes, aos quais é permitido não prestar fé. Ele está plenamente consciente de que os seus escritos pertencem à segunda categoria e que o público está bem ciente disso. Os primeiros ditam a verdade absoluta; os restantes, por vezes afastam-se dela, e esta persuasão facilita-lhes naturalmente a tarefa relativamente à verdade his-
tórica”2. Assim se explica porque é que, esclarece Jean Segondy, “a hagiografia medieval pouco se preocupava com uma cronologia rigorosa e com outras questões que hoje nos interessam”3. Não ter isso em conta significa excluir a possibilidade de compreender de modo adequado o valor, as intenções, os limites e os méritos das hagiografias medievais – dito de outro modo, o que podem ou não podem dizer ao homem moderno, quer se trate de um estudioso ou de um simples leitor. Obras deste tipo não representam necessariamente o melhor meio para fundamentar rigorosamente a biografia de um santo e a criação do seu culto. De facto, as hagiografias não se inspiram em motivações essencialmente históricas, mas sim religiosas, ou melhor, de edificação moral. É por isso que os escritores da época não tinham problemas em rechear os seus livros com tradições nitidamente lendárias, mesmo com invenções próprias e ainda com uma série de lugares-comuns retirados da Bíblia ou de outras “vidas de santos”. Tudo isto pode parecer-nos absurdo, mas o facto é que a intenção do hagiógrafo – repete-se – era a de apresentar ao leitor um modelo de vida cristã ao qual o protagonista, ou seja, o santo, se tinha conformado durante a sua vida terrena. Consequentemente, as antigas hagiografias são só um dos instrumentos à disposição do historiador, o qual, para elaborar uma biografia verídica, deve basear-se principalmente em outros documentos e testemunhos, de tipo litúrgico, civil, artístico.
OS STATUTI civili e criminali de Voghera (Itália) Neste registo, ainda conservado no Arquivo Histórico, encontra-se a mais antiga documentação de uma festa de São Roque. A data final é 25 de fevereiro de 1391, mas a página poderia remontar a 1382, ou seja, poucos anos depois da morte do santo, ocorrida provavelmente na mesma Voghera
AS MAIS ANTIGAS VITAE DE SÃO ROQUE Dito isto, podemos concentrar-nos no que realmente importa, ou seja, perscrutar as mais antigas fontes textuais à nossa disposição para tentar rasgar o véu de obscuridade que ainda envolve a vida e a lenda de São Roque. AS MAIS ANTIGAS HAGIOGRAFIAS ROQUIANAS Como se pode notar, os textos disponíveis foram compostos entre o final do século xv e início do 131
Untitled-17 131
28/08/15 12:00
| INVESTIGAÇÃO |
século xvi, isto é, pelo menos um século depois da morte de São Roque (1376/79). Comecemos pelas obras fundamentais, ou seja, pelas fontes realmente originais, sob variados títulos, reproduzidas pelos copistas sobre o nosso santo, e que desde há séculos transmitem a sua memória de geração em geração. • A Vita Sancti Rochi de Francesco Diedo (1479) Escrita em latim e traduzida para italiano, é a obra do jurista e humanista veneziano Francesco Diedo (1433-1484), governador de Brescia. A primeira edição latina conhecida foi publicada em Milão, pelo editor Simon Magniacus, e a data de composição está indicada de forma explícita como sendo o dia 1 de junho de 1479.
SÃO ROQUE DE MONTPELLIER, PERSONAGEM TÃO FASCINANTE NAS SUAS NUMEROSAS EXPRESSÕES RELIGIOSAS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS E SOCIAIS, COMO INACESSÍVEL, OU QUASE, NA SUA EFETIVA CONSISTÊNCIA HISTÓRICO-BIOGRÁFICA” Estão ainda disponíveis outras edições, cada uma com distintas particularidades; as latinas foram impressas em Veneza, em 1483-1484, por Bernardinus Benalius; em Nuremberga, em 1485, por Konrad Zeninger (a primeira depois da morte do autor); em Mainz, em 1494-1495, por Peter von Friedberg; em Paris, em 1495, quase seguramente por Jean Tréperel. A primeira versão italiana saiu também em Milão, em 1479, por obra do mesmo editor da obra latina contemporânea; uma segunda edição, datada de 1484, foi impressa ainda em Milão, mas por outro tipógrafo, Johannes Antonius de Honate.
É importante salientar que uma das mais importantes edições da Vita de Diedo foi elaborada pelo bolandista Ioannes Pinius, nome latinizado de Jean Pin ou Pien (1678-1749)4. No entanto, este jesuíta, apesar de dispor de incunábulos (isto é, antigos textos impressos), não lhes atribui grande importância, tendo, infelizmente, preferido usar coleções de manuscritos muito tardios. Um desses, na sequência das cuidadosas pesquisas efetuadas por Pierre Bolle, foi identificado num códice conservado na biblioteca da Abadia de St. Gallen, datável entre os anos de 1513 e 15265. • O Anónimo alemão (1482) Trata-se de uma hagiografia escrita em língua alemã – Hystorie von sant Rochus – de que não se conhece o autor. Por esse motivo, os estudiosos convencionaram designá-la por o Anónimo alemão. Os dois incunábulos mais antigos foram impressos em Viena, em 1482, e não apresentam diferenças de realce, a não ser algum elemento puramente ortográfico. São, portanto, obra do mesmo editor, provavelmente Stephan Koblinger. Outro incunábulo, com título diferente e igualmente anónimo – Das Leben des heiligen herrn sant Rochus –, foi impresso em Nuremberga em 1484. A língua alemã apresenta, neste caso, diferenças mais evidentes; sendo provável que seja do editor Konrad Zeninger. Para evitar confusões, devemos recordar que esta obra, quer para as edições vienenses quer para as de Nuremberga, é frequentemente indicada também como sendo um texto originariamente escrito em italiano e posteriormente traduzido para alemão – Historica ex-italica lingua reddita Teutonice ad honorandum sancti Rochi. • Os Acta breviora (1483) Estes intitulados Atti brevi são, de facto, um sucinto relato redigido em língua latina por um autor desconhecido; vários estudiosos designam-nos pelo nome de Anónimo latino. O texto mais notório é o publicado em 1737 nos Acta Sanctorum – juntamente com uma Vita de Diedo – pelo bolandista Jean Pinius, cuja discutível escolha originou inúmeros problemas aos historiadores. Com efeito, tais textos
132
Untitled-17 132
28/08/15 12:00
| HISTÓRIA E CULTURA |
baseiam-se em coleções manuscritas pouco rigorosas, as quais, no caso específico dos Acta breviora, remontam ao último quartel do século xvi, obtidas dos arquivos dos conventos de Herent (perto de Lovaina), Amiens e Paris, o primeiro dos Betlemitas, os outros dois dos Celestinos. O facto é que os Acta breviora já se podiam encontrar em dois incunábulos da Hystorie plurimorum sanctorum, muito mais interessantes e, sobretudo, datados com precisão. O primeiro foi impresso em Colónia em 1483, por Ulrich Zell, o segundo, em Lovaina, em 1485, por Johannes de Westfalia. Bem anteriores, pois, aos manuscritos utilizados por Pinius (e também bem mais claros). O Hystorie é um livro dedicado à vida de numerosos santos, sendo composto pelo texto original – isto é, a celebérrima Leggenda aurea de Jacopo de Varazze (1230-1298) – e por um suplemento para as atualizações. Este último originou o objeto da edição de Lovaina. Os Acta breviora constituem, pois, um extrato desta “enciclopédia” de santos; o nome foi criado pelos estudiosos, mas, nas coleções originais, a parte dedicada ao nosso santo intitula-se De sancto Rocho confessore. Vale a pena destacar uma tradução em holandês que remonta a uma data anterior a 1488, um incunábulo – Legende ende dat leven des confessoers sint Rochus – do qual se extraíram algumas cópias manuscritas, redigidas em diversos dialetos flamengos. Um exemplar poderá ser proveniente do convento de Santo Agostinho em St. Trond, um de Maastricht (cerca de 1500) e um de Meerssen (cerca de 1510). • A Vie et Legende de Monseigneur Saint Roch de Jehan Phelipot (1494) Esta hagiografia é um livro em língua francesa, redigido por Jehan Phelipot, frade dominicano de um convento em Paris. Os incunábulos disponíveis são três, com títulos parcialmente diferentes: os dois primeiros foram publicados em Paris em 1494, por Pierre le Caron e por Jean Herouf; o terceiro em Rouen em 1496, por Jacques le Forestier. As diferenças textuais são mínimas, à exceção dos apêndices litúrgicos.
• As hagiografias menores Além dos textos principais atrás descritos, existem outras fontes textuais antigas, mas que, de acordo com o juízo unânime dos estudiosos, se revestem de uma importância deveras marginal. Os poucos elementos de relevo referem-se a alguns temas mais limitados e específicos.
A INTENÇÃO DO HAGIÓGRAFO ERA A DE APRESENTAR AO LEITOR UM MODELO DE VIDA CRISTÃ AO QUAL O PROTAGONISTA, OU SEJA, O SANTO, SE TINHA CONFORMADO DURANTE A SUA VIDA TERRENA” • A Vita del Glorioso Confessore San Rocco de Paolo Fiorentino (1481-82) Trata-se de mais um texto descoberto recentemente, mas não comparável em importância às outras duas hagiografias de que falaremos mais adiante. Impresso em Brescia pelo tipógrafo Bartolomeo da Vercelli, é datável entre 1481 e 1482, devendo, por isso, representar o mais antigo texto em língua vulgar publicado na cidade lombarda; precedido por uma Confessione utile e breve ai suoi devoti bresciani per insegnare disporsi a confessarsi e, posteriormente, por uma Orazione alla comunità di Brescia, exibe, como título completo, Vita del glorioso confessore san Rocho di Monpolieri di Francia advocato contro la peste. O autor apresenta-se como Paolo Fiorentino Aldigheri. No que se refere ao cognome, não se pode avançar qualquer hipótese, apesar de – tal como nos é oportunamente elucidado por Elena Cristina Bolla – Aldigheri ser a forma lombardo-véneta de Altichieri ou Alighieri, o cognome de Dante. O pseudónimo Paolo Fiorentino é, por outro lado, atribuído a um conhecido pregador da ordem dos Servitas, Paolo Attivanti (m. 1499), recordado por diversas fontes e autor de textos variados. 133
Untitled-17 133
28/08/15 12:00
| INVESTIGAÇÃO |
• O Compendium Vitae Sancti Rochi (1493) Este Compendium é um brevíssimo texto latino, que faz parte de uma obra em vários volumes, dedicada a sucintas Vitae de santos. O autor da obra original, o Catalogus Sanctorum, era um bispo de Aquileia, de nome Pietro Natali, que viveu na segunda metade do século xiv. O Compendium sobre São Roque não foi escrito por ele, mas pelo compilador dos suplementos, que foram acrescentados ao texto-base na edição publicada em Vicenza, em 1493.
OS TEXTOS DISPONÍVEIS FORAM COMPOSTOS ENTRE O FINAL DO SÉCULO XV E INÍCIO DO SÉCULO XVI, ISTO É, PELO MENOS UM SÉCULO DEPOIS DA MORTE DE SÃO ROQUE (1376/79)”
• A Vita Sancti Rochi de Ercole Albiflorio (1494) Escrita em língua latina por Hercules Albiflorius Peamphilus, foi publicada em Udine em 1494. Contudo, o autor afirma na introdução ter terminado o livro em Spilimbergo, a 1 de novembro de 1492. Na substância, trata-se simplesmente de um compêndio, mais reduzido e fluido, da Vita de Diedo, sem integrações nem alterações de relevo – a não ser uma série de datações que, na realidade, resultam ser pouco plausíveis. • O Livro Fantasma de Pietro Ludovico Maldura (1495) Os autores que se lhe referem recordam-no com o clássico título latino de Vita Sancti Rochi e afirmam que teria sido publicado em Mainz, na data de 1494-1495. Na realidade, não se trata de uma obra original. De facto, este não é mais do que uma das edições da Vita de Diedo. O erro surgiu pelo facto de algumas versões do texto diedano conterem uma carta do próprio Maldura, que se
congratulava com ele por “ter tirado do olvido e posto em plena luz os admiráveis atos de um homem tão grande, e por ter publicado esta obra de estilo superior em louvor de São Roque”. Pois bem, o editor de Mainz caiu num clamoroso equívoco e indicou Maldura como sendo o autor do livro na sua totalidade! O engano continuou ao longo dos séculos (e mesmo nos anos mais recentes), sendo ainda necessário esclarecer que não existe absolutamente qualquer Vita Sancti Rochi de Maldura. Quem a cita comete na realidade um erro de atribuição em detrimento de Diedo… • A Vita Sancti Rochi de Jean de Pins (1516) O autor deste enésimo texto latino publicado em Veneza, é Joannes Pinus, ou seja, Jean de Pins, bispo de Rieux, embaixador na cidade lagunar por conta do rei de França, Francisco I. A fim de evitar equívocos, repete-se, mais uma vez, que este prelado não deve ser confundido com o já citado bolandista Jean Pinius. A obra não é fácil de encontrar, razão pela qual os estudiosos utilizam uma reprodução impressa em Roma em 1885, pelo editor Eliseus Lazaire6. • A Misteriosa Vita di San Rocho de Bartolomeo Bagarotti (1525) Em teoria, deveria tratar-se de um livro escrito em italiano e publicado em Piacenza. Assinalado no século xvii por Pier Maria Campi, é também recordado pelo bolandista Jean Pinius nos Acta Sanctorum de 1737. De acordo com o Campi, representaria o texto fundamental para confirmar os episódios da vida de São Roque ocorridos em Piacenza, mas nunca foi encontrado. As referências bibliográficas citam-no como sendo um livro editado em 1525. • A Vita di San Rocco de Lelio Gavardo (1576) Trata-se, substancialmente, de uma tradução para italiano da obra de Jean de Pins, redigida por Lelio Gavardo e publicada em Veneza. O seu interesse reside num mapa da zona de Piacenza, agregada ao livro com o intuito de oferecer uma representação gráfica dos lugares ligados aos últimos anos da vida do santo.
134
Untitled-17 134
28/08/15 12:00
| HISTÓRIA E CULTURA |
Vita primitiva perduta em língua italiana finais de 1300, princípios de 1400
(ANÓNIMO ALEMÃO) Hystory von sant Rochus Viena 1482 Nuremberga 1484
(ANÓNIMO LATINO)
FRANCESCO DIEDO
Acta breviora Colónia 1430
Vita Sancti Rochi Milão 1478
JEHAN PHELIPOT Vie et Legende de Monseigneur saint Roch Paris 1494
• As “novas” hagiografias Novas, obviamente não no sentido cronológico, mas por terem sido descobertas recentemente, em virtude de estudos específicos. Por agora, devemos manter uma certa cautela, visto que, apesar de estarem a atualizar profundamente o nível de conhecimentos das pesquisas textuais sobre as fontes antigas, necessitam ainda de ser posteriormente submetidas a rigorosos estudos específicos. Contudo, é sobre estas que os historiadores apostam para elaborarem teses que parecem preanunciar mudanças radicais. • A Istoria di San Rocco de Domenico da Vicenza (1478-1480) Trata-se de uma composição em verso e em língua italiana, que, como primeira hipótese, podemos considerar ter tido por texto-base a versão italiana de Diedo. Se assim for, a sua redação seria de adscrever a um período de tempo – assaz limitado – subsequente a 1 de junho de 1479, data de composição da obra do autor veneziano. No entanto, não é de excluir que a Istoria possa, pelo contrário, ser anterior, uma tese que hoje parece ser mais provável. O texto faz parte de um incunábulo, impresso presumivelmente em Milão, e de um manuscrito conservado em Pádua7.
JEAN DE PINS Vita Sancti Rochi Veneza 1516
• A Vita Sancti Rochi de Bartolomeo dal Bovo (1487) Neste caso estamos perante um exemplar único, conservado em Verona8, escrito à mão por um homem de 84 anos, num dos denominados “livros de família”, fascículos que, de acordo com os usos da época, continham textos com os mais variados e diversos conteúdos. As folhas em branco eram normalmente utilizadas para anotações de natureza pessoal. No caso em apreço, Bartolomeo copiou também uma hagiografia latina de São Roque, indicando, no final, a data de transcrição, a saber, 22 de maio de 1487. Do texto original, bem como do seu autor, nada se sabe, não se conseguindo, nomeadamente, remontar à data de composição da mesma. As consonâncias com as principais Vitae roquianas são bastante marcadas, mas o texto apresenta ainda algumas variantes e algumas diferenças de realce, tal como foi bem evidenciado pela análise rigorosa de Francesca Lomastro9. AS CONEXÕES E DERIVAÇÕES ENTRE AS FONTES ANTIGAS: DA “TESE TRADICIONAL” ÀS NOVIDADES DE PIERRE BOLLE Podemos, assim, entrar de modo mais específico no delicado, mas fundamental, problema das “conexões e derivações” entre as obras que acabá135
Untitled-17 135
28/08/15 12:00
| INVESTIGAÇÃO |
OS ACTA BREVIORA CONSTITUEM, POIS, UM EXTRATO DESTA ‘ENCICLOPÉDIA’ DE SANTOS; O NOME FOI CRIADO PELOS ESTUDIOSOS, MAS, NAS COLEÇÕES ORIGINAIS, A PARTE DEDICADA AO NOSSO SANTO INTITULA-SE DE SANCTO ROCHO CONFESSORE” mos de descrever. Até 1900, a convicção comum, transmitida ao longo dos séculos – à parte algumas exceções –, era a de que na origem de tudo estava a Vita Sancti Rochi de Francesco Diedo, e que, da mesma tinham derivado, de modo mais ou menos direto, todas as outras. Mas, na sequência dos estudos de Antonio Maurino e de Augustin Fliche – que, para além do mais, inovaram a cronologia da vida de São Roque, deslocando-a para a segunda metade do século xiv – surgiram no centro das atenções os Acta breviora, por uma série de motivos sobre os quais não nos podemos debruçar neste artigo. De qualquer modo, somando e juntando as conclusões destes dois autores, podemos apresentar um esquema sintético da denominada “tese tradicional”, com base na excelente reconstrução de Pierre Bolle10. Tal como se pode notar, na origem de todas as antigas fontes roquianas estaria uma Vita escrita em italiano, posteriormente perdida; sendo precisamente os Acta breviora a obra mais antiga de entre aquelas conservadas, pelo facto de a sua datação se poder situar por volta de 1430. Por muitos anos, a “tese tradicional” pareceu a única verdadeiramente plausível, tendo sido considerada praticamente definitiva até à extraordinária obra de revisão do belga Pierre Bolle, que revolucionou, de facto, os estudos sobre a matéria. Já na primeira fase dos seus estudos, Bolle tinha redimensionado a presumível anterioridade
dos Acta breviora, restituindo à Vita Sancti Rochi de Francesco Diedo a dignidade de texto-base original para as hagiografias subsequentes (o que não representava, de qualquer modo, um simples retorno à teoria preexistente). Mas foi a descoberta das “novas” hagiografias de Domenico da Vicenza e de Bartolomeo dal Bovo que o induziu a rever ulteriormente as suas primeiras conclusões, das quais o Centro de Estudos Roquianos tem dado conta, ao longo dos anos, com uma série de importantes artigos e ensaios11. Os esquemas que o mesmo tem vindo a elaborar são pelo menos três, e seria deveras interessante segui-los passo a passo. Por razões óbvias, temos de nos limitar ao último, o qual, de resto, é o mais completo até à data, estando, aliás, inserido num ensaio de grande importância – a recapitulação, de facto, dos resultados de décadas de estudos do mais influente estudioso mundial da figura de São Roque12. Numa síntese extrema, de acordo com Pierre Bolle, o texto “copiado” por Bartolomeo dal Bovo para a sua transcrição seria o mais antigo, seguido pelo de Domenico da Vicenza e, finalmente, por aquele de Diedo. De facto, é o próprio Diedo, no prólogo da edição italiana, a referir ter utilizado, para “compor a sua Vita de Sancto Rocco, duas fontes: alguns fragmentos ‘bárbaros’, isto é, em língua estrangeira, e versos ‘vulgari’, isto é, em língua vulgar, ou seja, para ele, em italiano”. Os últimos corresponderiam portanto ao “poema hagiográfico de Domenico da Vicenza, uma obra que apresenta incontestáveis ligações de afinidade textual com o manuscrito de Bartolomeo dal Bovo, sinal da sua derivação de um ascendente comum”13: a designada fonte comum “F”, assim denominada por Bolle, quando se refere aos Fragmenti barbari de que fala Diedo. Esta é, portanto, a situação atual dos estudos mais recentes sobre as antigas fontes roquianas escritas, que representa, por isso, também o ponto de partida para futuros desenvolvimentos das pesquisas. O objetivo é sempre o mesmo: dissipar a obscuridade que ainda envolve a reconstrução de uma biografia aceitável do nosso santo,
136
Untitled-17 136
28/08/15 12:00
| HISTÓRIA E CULTURA |
FONTE “F” [Fragmenti barbari recordados por Diedo]
Bartolomeo dal Bovo
Domenico da Vicenza
Francesco Diedo
Vita Sancti Rochi 22 de maio de 1487
Istoria di San Rocco [1478-1480]
Vita Sancti Rochi 1479
Anónimo alemão Hystory von sant Rochus Viena 1482 Nuremberga 1484
Anónimo latino
Jehan Phelipot
Acta breviora Colónia 1483
Vie et Legende de Mgr. Saint Roch Paris 1494
Peregrinus Barmentlo?
Jean de Pins
Die legende... Hasselt 1488
Vita Sancti Rochi Veneza 1516
para melhor conhecer e compreender uma das mais extraordinárias figuras de santidade da história da Igreja: Roque de Montpellier, peregrino e taumaturgo… homem da Idade Média, homem moderno.
Antoniana de Pádua, manuscrito n.º 220, folhas 197v°-224. 8. Biblioteca Civica de Verona, manuscrito 827, folhas 73-77. 9. Cf. Francesca LOMASTRO, Di una ‘Vita’ manoscritta e della prima diffusione del culto di san Rocco a Vicenza, in San Rocco. Genesi e prima espansione di un culto, Atas do Convénio de estudos de Pádua de 12-13 de fevereiro de 2004, por André Vauchez
NOTAS
e Antonio Rigon. In Subsidia hagiographica (2006), Bruxelas,
1. André VAUCHEZ, Rocco, in Storia dei santi e della santità cris-
n.º 87, pp. 99-103. O texto integral da Vita Sancti Rochi di Bar-
tiana, Milão, 1991, volume VII, p. 225.
tolomeo dal Bovo está transcrito nas pp. 108-116.
2. Hippolyte DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, Bruxelas,
10. Pierre BOLLE, San Rocco di Montpellier. Dai racconti agio-
1905, p. 2 e pp. 64-65 (ed. 1955).
grafici alle origini leggendarie. In Vita Sancti Rochi (2006), n.º 1,
3. Jean SEGONDY, Saint Roch de Montpellier, in “Monspeliensis
p. 75 (tradução de Paolo Ascagni). Para o texto original em
Hippocrates” (1964), Montpellier, n.º 23, p. 3.
língua belga, cf. www.sanroccodimontpellier.it, secção Studi.
4. Daqui em diante será sempre chamado de Pinius, de modo a
11. Cf. www.sanroccodimontpellier.it nas secções Testi e Studi,
evitar confusões com o bispo Jean de Pins, autor de uma hagio-
as revistas Vita Sancti Rochi (2006-2008) e “Annali del Centro
grafia quinhentista sobre São Roque.
Studi Rocchiano” (2012).
5. Biblioteca da Abadia de St. Gallen, códice 613, coleção ma-
12. Cf. Pierre BOLLE, Rocco di Montpellier. Una lunga ricerca tra
nuscrita de vidas de santos, folhas 335-371.
archivi, leggende e nuove scoperte. In “Annali del Centro Studi
6. Ad illustrissimum Dominum D. Antonium Pratum… divi Rochi
Rocchiano” (2012), n.º 1, editado pela Associazione Italiana San
narbonensis vita per Ioannem Pinum tolosanum edita, assinalada
Rocco di Montpellier (tradução de Paolo Ascagni); versão infor-
como Vita sancti Rochi. Auctore Pino, episcopo Rivorum (Vene-
mática in www.sanroccodimontpellier.it, secção Testi.
tiis, 1516).
13. Pierre BOLLE, Rocco di Montpellier..., op. cit., pp. 84 e 85.
7. Biblioteca Ambrosiana de Milão, incunábulo 703; Biblioteca
137
Untitled-17 137
28/08/15 12:00
| EDUCAÇÃO |
Do Recolhimento das Órfãs ao Instituto de São Pedro de Alcântara Dois estabelecimentos de ensino com distintos projetos pedagógicos, destinados à educação e formação de jovens do sexo feminino. Texto de Luísa Colen [HISTORIADORA, DIREÇÃO DA CULTURA_SCML]
EDÍFICIOS E LEGADOS Recolhimento das Órfãs foi fundado por iniciativa da Misericórdia de Lisboa, mercê do legado de D. Antónia de Castro, falecida em 15871. A intenção da testadora era a criação de um hospital para peregrinos estrangeiros pobres, dando-lhes comida e cama por cinco dias. Além dos bens legados, a benfeitora entrega à Misericórdia umas casas junto à Sé de Lisboa, para a instalação do dito hospital. Como existissem na cidade diversos hospícios ou albergarias onde os peregrinos eram acolhi-
O
1. D. Antónia de Castro, mulher de Diogo Lopes de Sousa, antigo governador do Reino, faleceu a 26 de setembro de 1587. Cf. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa pertencentes ao Recolhimento, Livro 1, fls. 2-8, Traslado do Testamento de D. Antónia de Castro, 1602-05-04; testamento de 1587-09-06, aberto em 1587-09-26.
138
Untitled-18 138
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Edifício do extinto Convento de S. Pedro de Alcântara, onde funcionou o Recolhimento das Órfãs / Instituto de S. Pedro da Alcântara, entre 1834 e 2012
139
Untitled-18 139
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
dos, na sua maioria quase desertos, foi solicitada a Roma a comutação da cláusula do testamento de D. Antónia. O Papa Clemente VIII2 concede à Irmandade da Misericórdia de Lisboa a substituição solicitada, aplicando-se as verbas deste legado à fundação de um recolhimento destinado “a donzelas pobres, órfãs e outras mulheres quase desamparadas, algumas viúvas honestas ou mulheres casadas cujos maridos partiam para muito longe, as quais não podiam sustentar-se, nem viver nas suas próprias casas”3. O Recolhimento começou a funcionar provavelmente no ano de 1594, instalado nas referidas casas. Em 27 de junho de 16544, as órfãs do Recolhimento são transferidas para o edifício da sede da Misericórdia, na Ribeira, devido à ruína em que se encontravam as casas legadas por D. Antónia. Outro benemérito, Manuel Rodrigues da Costa, falecido em 16845, lega à Misericórdia uma verba avultada, destinada à concretização de diversas obras pias, incluindo a criação, edificação e sustento de um recolhimento para quarenta meninas órfãs e a concessão de dotes às mesmas, após o período de recolhimento. Com este importante legado, a Irmandade da Misericórdia pôde reedificar e aumentar as acomodações das órfãs no edifício da Ribeira. Com o terramoto de 1755, que destruiu a sede da Misericórdia de Lisboa na Ribeira, o Recolhimento foi-se instalando em moradas provisórias
até à doação do edifício de São Roque (antiga Casa Professa dos Jesuítas), para onde se mudaram as órfãs em 8 de dezembro de 17686. O edifício do extinto Convento de São Pedro de Alcântara, que pertencia à Ordem dos Frades Menores Reformados de Santa Maria da Arrábida, secularizado em 18337, passou para a posse da Misericórdia no ano seguinte, sendo para aqui transferidas as órfãs e todo o pessoal do Recolhimento, deixando mais espaço para o Hospital dos Expostos no edifício de São Roque. ADMISSÃO DAS EDUCANDAS: NÚMERO E REQUISITOS No Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1618 estabelecera-se8 que seriam 13 as meninas órfãs a acolher no Recolhimento, devendo estas, à data de entrada, ter mais de 12 anos e menos de 20, permanecendo no estabelecimento durante quatro anos9, sendo obrigadas a dar fiança de que seriam retiradas após esse período, ou sempre que a Mesa o ordenasse. O número de órfãs admitidas foi acrescentado posteriormente com os legados de Sebastião Perestrelo10, com mais cinco órfãs e do inquisidor Bartolomeu da Fonseca11, com mais uma órfã. A partir de 1690, com a instituição do Recolhimento de Manuel Rodrigues da Costa, passaram a admitir-se mais quarenta órfãs. Em 1748 a Misericórdia de Lisboa resolveu12, face ao rendimento restante dos vários legados que sustentavam
2. A Bula Apostólica do Papa Clemente VIII foi confirmada por Carta de Sentença de Comutação de D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa, em 18 de maio de 1594. Cf. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa pertencentes ao Recolhimento, Livro 1, fls. 9-14, Traslado da Sentença de Comutação do Legado de D. Antónia de Castro, 1602-06-06. 3. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa…, Livro 1, fl. 11 v. 4. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de assentos e fianças das órfãs do Recolhimento, Livro 2 da Administração da fazenda de Manuel Rodrigues da Costa, fl. 1 v. 5. Cf. AHSCML, Cartório, Testamentos, mç. 14, proc. 38; Idem, Execuções, mç. 5, proc. 8, Certidão do testamento de Manuel Rodrigues da Costa. 6. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa…, Livro 1, fl. 154 v. 7. Decreto de 31 de dezembro de 1833. 8. Collecção chronológica da legislação portugueza, José Justino de Andrade e Silva (comp. e anot.), Lisboa, Imprensa de J.J.A. Silva, 2.º vol. (1613-1619), pp. 299-301, Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1618, Capítulo XX – Governo e officiaes da Casa do recolhimento das donzellas. O Arquivo Histórico da SCML possui dois exemplares com o texto do Compromisso, impressos por Pedro Craesbeek, em 1619 [cotas L.A.XVII.0688 e 0689]. 9. Até essa altura, o tempo de permanência das órfãs no Recolhimento estava limitado a dois anos. 10. Cf. AHSCML, Cartório, Testamentos, mç. 5, proc. 44, Cópia do testamento de Sebastião Perestrelo, feito em 31 de agosto de 1634. 11. Cf. AHSCML, Cartório, Testamentos, mç. 2, proc. 1, Certidão do testamento do Inquisidor Bartolomeu da Fonseca, feito a 14 de abril de 1620. 12. Por Ordem da Junta Pequena de 16 de outubro de 1748. Cf. AHSCML, Recolhimento das Órfãs. Diversos, Cx. 1, proc. n.º 1.
140
Untitled-18 140
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
as chamadas “Órfãs da Casa”, reduzir o seu número para onze, sendo sete do legado de D. Antónia de Castro, um do inquisidor Bartolomeu da Fonseca e três de Sebastião Perestrelo, sustentadas pelos seus respetivos rendimentos e pelos remanescentes dos legados de Margarida Dias e Joana da Costa. Para a sua admissão as órfãs necessitavam de fazer um requerimento à Mesa e esta, através dos irmãos Visitadores e dos Oficiais do Recolhimento, procedia a indagações sobre a sua virtude, idade, saúde e desamparo. Os párocos da sua zona de residência tinham de emitir certidão atestando a sua orfandade e pobreza, bem como a honestidade e recolhimento em que viviam. De entre as órfãs admitidas a concurso anual e que possuíam, portanto, os requisitos indispensáveis de serem órfãs, solteiras, pobres e na idade exigida, eram selecionadas as que iriam ser providas nas vagas existentes, por uma ordem de critérios que privilegiava as que fossem órfãs de pai e mãe, as naturais de Lisboa, as filhas de irmãos da Irmandade da Misericórdia, as que se encontrassem em maior desamparo pela pobreza extrema, família numerosa, ausência de familiares, entre outros. Para o Recolhimento entravam também algumas meninas expostas, que viviam no Hospital dos Expostos ou se encontravam em casa de suas amas ou protetores, mas que mostravam inclinação para os estudos. No Recolhimento das Órfãs da Santa Casa foi inicialmente permitida a entrada de mulheres solteiras, casadas ou viúvas, na qualidade de porcionistas13, que teriam de ser obrigatoriamente virtuosas e, sendo casadas, autorizadas por seus maridos, sujeitando-se, como as órfãs, a ser objeto de inquirição. A partir de 1740 a Santa Casa interdita a entrada de porcionistas para o Recolhimento das Órfãs14, continuando a receber esporadicamente algumas porcionistas solteiras e de menor idade.
O RECOLHIMENTO COMEÇOU A FUNCIONAR PROVAVELMENTE NO ANO DE 1594, INSTALADO NAS CASAS LEGADAS PELA BENFEITORA D. ANTÓNIA DE CASTRO, JUNTO À SÉ DE LISBOA”
Processo de órfã provida – requerimento e informação (Concurso de 1806, proc. 25)
13. As porcionistas pagavam uma “porção” para a sua sustentação no Recolhimento, que inicialmente era de 25 mil réis anuais, pagos adiantados, e que se destinava a despesas de alojamento e alimentação. Não estava definido qualquer limite de tempo de recolhimento para as porcionistas. 14. Cf. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa…, Livro 1, fl. 147.
141
Untitled-18 141
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
das donzelas, que tinha a seu cargo as compras destinadas ao Recolhimento das Órfãs. O governo interno da casa das órfãs estava confiado a uma regente e o ensino a mestras que, juntamente com a porteira, a despenseira, a enfermeira e as serventes, constituíam as funcionárias residentes no estabelecimento. Com a nomeação da Comissão Administrativa da Santa Casa, em 1834, a direção dos estabelecimentos do Hospital dos Expostos e do Recolhimento das Órfãs é confiada a um administrador e, a partir de 185116, é criado o lugar de diretor do Hospital dos Expostos e do Recolhimento das Órfãs. Cada um destes estabelecimentos continuou, internamente, a ser governado por uma regente. Este sistema de administração manteve-se até ao século xx.
Processo de órfã provida – requerimento e informação (Concurso de 1806, proc. 25)
ADMINISTRAÇÃO DO RECOLHIMENTO A Irmandade de Lisboa elegia todos os anos dois irmãos nobres, um para tesoureiro e outro para escrivão do Recolhimento, que tinham o dever de ir todos os dias ao Recolhimento, ordenando o que fosse necessário. Deviam também comunicar à Mesa “do que lhes parecer que convém para melhor governo e clausura do dito Recolhimento”15. Era também eleito mensalmente pela Mesa um irmão para servir de mordomo da bolsa
EDUCAÇÃO E ENSINO A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) apoiava as órfãs recolhidas através da educação e instrução ministrada ao longo dos quatro anos de internamento e da concessão de um dote para facilitar o seu casamento, após a saída da instituição. Além do ensino de ler e costurar, ministrado no Recolhimento desde o seu início, órfãs e porcionistas deviam participar nas tarefas domésticas, varrendo as casas, servindo à vez na sacristia e noutros lugares, conforme a regente determinasse. Ao longo do século xviii menciona-se, em provimentos das mestras para o Recolhimento, na parte relativa às suas obrigações, que estas deviam “ensinar as órfãs a ler e escrever, bordar, fazer rendas e todas as mais artes liberais que podem fazer perfeita uma mulher” e ter ainda o “cuidado de as industriar na Doutrina Cristã e atos de virtude”17. A partir de 1789 a Mesa da Santa Casa reformulou o sistema de ensino, solicitando a vinda de
15. Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1618… p. 299. 16. Decreto de 22 de outubro de 1851. 17. Cf., por exemplo, AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa…, Livro 1, fl. 42, Provisão de Joaquina Rita para Mestra do Recolhimento, 1766-04-29.
142
Untitled-18 142
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Alunas, mestras e ajudantes do Recolhimento de São Pedro de Alcântara em 1894
uma regente e mestras do Colégio das Ursulinas de Pereira para se dedicarem à educação e instrução das órfãs do Recolhimento18. Passa então a existir duas aulas, uma de ler, escrever e contar e outra de manufaturas, distribuindo as alunas por várias classes, segundo o seu adiantamento. Especifica-se ainda que as mestras ensinarão às órfãs a doutrina cristã, a ler, escrever, contar, fiar, coser, engomar, fazer meia, redes, coifas, bolsas, bordar de branco, matiz e ouro e a trabalhar na cozinha19. Em 1875 é estabelecido um novo regulamento relativo à educação das órfãs no Recolhimento de São Pedro de Alcântara, dividindo-a igualmente em duas secções: uma literária e a outra no ensino dos
PARA A SUA ADMISSÃO AS ÓRFÃS NECESSITAVAM DE FAZER UM REQUERIMENTO À MESA E ESTA, ATRAVÉS DOS IRMÃOS VISITADORES E DOS OFICIAIS DO RECOLHIMENTO, PROCEDIA A INDAGAÇÕES SOBRE A SUA VIRTUDE, IDADE, SAÚDE E DESAMPARO”
18. A Companhia de Santa Úrsula, fundada por Ângela Merici, era um instituto secular feminino que tinha por objetivos a assistência aos enfermos e o ensino do sexo feminino. Foi reconhecido pela Santa Sé em 1544. A Congregação das Ursulinas espalhou-se e fundou conventos e colégios ao longo dos séculos xvii e xviii por vários países da Europa e da América. Em Portugal estabeleceu três colégios: o de Pereira, perto de Coimbra (1753), em Viana (1778) e em Braga (1784/1786). Por solicitação da Mesa da Irmandade da Misericórdia de Lisboa, um grupo de sete religiosas provenientes do Colégio de Pereira veio para Lisboa ensinar as meninas órfãs do Recolhimento da Santa Casa. 19. Cf. AHSCML, Recolhimento das Órfãs, Registo de Despachos e Provisões da Mesa…, Livro 2, fls. 25 v.-32, Instruções para o Governo do Recolhimento, 1789-04-23.
143
Untitled-18 143
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
Regulamento para a educação das órfãs do Recolhimento (1875)
A PARTIR DE 1789 A MESA DA SANTA CASA REFORMULOU O SISTEMA DE ENSINO, SOLICITANDO A VINDA DE UMA REGENTE E MESTRAS DO COLÉGIO DAS URSULINAS DE PEREIRA PARA SE DEDICAREM À EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO DAS ÓRFÃS DO RECOLHIMENTO”
lavores “mais comuns e próprios de mulher”20. A educação literária restringia-se às matérias indicadas no programa oficial de admissão aos liceus nacionais, constando de leitura e escrita – caligrafia, noções elementares de gramática portuguesa, matemática elementar, noções abreviadas de geografia e cronologia, divisões gerais da história, noções resumidas da história pátria e religião católica. Em 189721 o ensino de línguas – francês e inglês – entretanto instituído, passa de um para dois anos. As órfãs iam realizar os exames do ensino primário e os de línguas estrangeiras no Liceu Central de Lisboa, como alunas externas e, no Conservatório de Lisboa, os exames de rudimentos de música e piano. A partir de 1906, ano da criação do primeiro liceu feminino em Lisboa – o Liceu Maria Pia –, as alunas do Recolhimento passaram a realizar os exames finais neste estabelecimento de ensino.
20. AHSCML, Órgãos da Administração, Registo de Despachos e Ordens da Administração, Livro 7, fls. 86v.-88v., Regulamento relativo à educação das órfãs do Recolhimento de São Pedro de Alcântara, 1875-11-27. 21. AHSCML, Órgãos da Administração, Actas das sessões da Mesa da SCML, Livro 18, fls. 242 v.-243, Deliberação de 1897-11-06.
144
Untitled-18 144
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Em 1927 a Mesa da SCML determinou que se desse início no Recolhimento a um Curso Elementar do Comércio, com o programa dos Cursos das Escolas Comerciais22, ordenando que o tempo de permanência no estabelecimento passasse de quatro para cinco anos, dando uma tolerância às educandas que perdessem um ano. As órfãs que tivessem vocação continuavam a ter aulas de música e todas recebiam uma “educação propriamente feminina”, nas áreas de economia doméstica e governo da casa23. A manutenção do ensino em regime de internato, para alunas e professoras, criou dificuldades no provimento de certas disciplinas do curso. As saídas profissionais para este tipo de estudos eram muito limitadas (desempenhavam funções auxiliares de comércio e escritório), tinham uma grande concorrência e eram mal remuneradas, não permitindo às órfãs obter e manter uma independência económica após a saída da instituição. Perante esta situação, a Mesa da Misericórdia de Lisboa resolveu, em 1943, fazer cessar no Recolhimento de São Pedro de Alcântara o Ensino Comercial24. O INSTITUTO LUÍSA PAIVA DE ANDRADA Em 12 de dezembro de 1908 é fundado por D. Carolina Augusta Picaluga Paiva de Andrada um internato para raparigas – designado Instituto Luísa Paiva de Andrada em memória da sua filha, já falecida –, que se localizava na sua casa de residência, na Rua de São Boaventura, em Lisboa. Em 1912, em virtude do testamento de D. Carolina e por seu falecimento em 23 de outubro desse ano, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é nomeada herdeira dos seus bens, sendo o primei-
ro e especial encargo a manutenção do Instituto, para o que a benfeitora deixa o prédio da Rua de São Boaventura. O Instituto Luísa Paiva de Andrada constituía um internato para 22 educandas, admitindo raparigas entre os 9 e os 12 anos de idade, escolhendo-se entre as famílias que mais tivessem descido na escala social, como tinha sido determinado pela benfeitora. As internadas recebiam uma educação esmerada que incluía, além da instrução primária, as aulas de português, francês, inglês, ensino doméstico, costura, lavores e música.
EM 1875 É ESTABELECIDO UM NOVO REGULAMENTO RELATIVO À EDUCAÇÃO DAS ÓRFÃS, DIVIDINDO-A EM DUAS SECÇÕES: UMA LITERÁRIA E A OUTRA NO ENSINO DOS LAVORES “MAIS COMUNS E PRÓPRIOS DE MULHER” A CONGREGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE MARIA E OS INSTITUTOS DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA Em visita oficial a uma obra assistencial e educativa situada em Setúbal, fundada pela Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria25 em 1938, o então subsecretário de Estado da Assistência Social, Dr. Joaquim Dinis da Fonseca26,
22. Estabelecido pela Lei n.º 1822, de 14 de outubro de 1925, e com os programas definidos pelo Decreto n.º 11490, de 19 de março de 1926. 23. AHSCML, Órgãos da Administração, Actas das sessões da Mesa da SCML, Livro 23, pp. 265-266, Deliberação de 1927-10-25. 24. AHSCML, Órgãos da Administração, Despachos Ministeriais, Livro 4, Acta da Mesa de 1943-09-30, Deliberação 57.ª aprovada por Despacho do Subsecretário de Estado da Assistência, Dr. Joaquim Dinis da Fonseca, de 1943-10-15. 25. A Congregação da Apresentação de Maria foi fundada pela Beata Anne Marie Rivier em França, em 1796, tendo como especial missão a do ensino da Igreja, pela educação cristã da juventude (Regra de Vida, C 7). Em 1925 é fundada a primeira comunidade da Apresentação de Maria em Portugal, no Funchal, Madeira. 26. Joaquim Dinis da Fonseca (1887-1958) era licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Foi membro do Centro Católico Português e fez a sua carreira profissional como administrador da Companhia dos Diamantes de Angola. A sua atividade política desenvolveu-se como deputado entre 1922 e 1926, assumindo o cargo de subsecretário de Estado da Assistência Social entre 1940 e 1944 e subsecretário de Estado das Finanças entre 1944 e 1950. Foi ainda membro da Junta Consultiva da União Nacional entre 1945 e 1957.
145
Untitled-18 145
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
Madre Maria da Santíssima Trindade, tratada pelas Irmãs e alunas simplesmente por Irmã Trindade [Arquivo da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria]
tomou contacto com a obra desta Congregação e com a sua superiora, a Irmã Trindade27, ficando impressionado com os bons resultados pedagógicos obtidos no Colégio da Apresentação de Maria e com as qualidades educativas da superiora, por quem nutriu verdadeira admiração, que foi intensificando em contactos posteriores. A Irmã Trindade considerava que o programa oficial dos estudos secundários, que tinham obrigatoriamente de cumprir nas suas obras educativas, estava pouco adequado à verdadeira
formação. “Aspirava a um plano de estudos em que Educação e Instrução se interpenetrassem intimamente e, utilizando métodos adequados e num ambiente propício à formação do sentido de responsabilidade e do espírito de iniciativa, se chegasse a um pleno e equilibrado desenvolvimento da personalidade das educandas.”28 Com a colaboração das Irmãs Maria de Jesus e Maria da Pureza, a Irmã Trindade elaborou um programa de estudos secundários, com um projeto pedagógico próprio29, para ser aplicado em experiências futuras. O Dr. Dinis da Fonseca, tomando conhecimento da sua existência e depois de o estudar, promete dar à Irmã Trindade a possibilidade de o aplicar. No verão de 1943 chama a Irmã Trindade: resolvera confiar a educação e ensino das internadas do Recolhimento de São Pedro de Alcântara às religiosas da sua Congregação30. Em outubro de 1943 a Irmã Trindade, acompanhada por 12 das suas primeiras noviças, vem para Lisboa, para dar início à obra em São Pedro de Alcântara. A Mesa da Santa Casa promove então a reorganização do ensino no Recolhimento de São Pedro de Alcântara e no Instituto Luísa Paiva de Andrada, reunindo os dois estabelecimentos sob a designação comum de Institutos de São Pedro de Alcântara, passando a funcionar ambos no edifício do convento. No acordo celebrado entre a Santa Casa e a Congregação, que tem efeito a partir de janeiro de 194431, o número de internadas dos Institutos é fixado em 62 educandas, pertencendo 40 ao Recolhimento das Órfãs e 22 ao Instituto Luísa Paiva de Andrada, tal como se praticava anteriormente. A Misericórdia continuava a selecionar as
27. A Madre Maria da Santíssima Trindade, com o nome de batismo Leontina Trindade de Ornelas e Vasconcelos (1893-1974) era tratada pelas suas Irmãs e alunas simplesmente por Irmã Trindade. Foi a fundadora da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. 28. PUREZA, Ir. Maria da, A.M., Em tudo a vontade de Deus. Vida da Madre Maria da Santíssima Trindade, fundadora da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, s.l., s.d., p. 206. 29. Cf. Carta da Irmã Trindade à Casa-Mãe, maio de 1944, Cit. por PUREZA, Ir. Maria da, A.M., Em tudo a vontade de Deus…, p. 212. 30. Cf. PUREZA, Ir. Maria da, A.M., Em tudo a vontade de Deus…, p. 207. 31. Cf. AHSCML, Órgãos da Administração, Despachos Ministeriais, Livro 4, Termo do Acordo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Congregação da Apresentação de Maria, respeitante à execução dos Serviços de S. Pedro de Alcântara (Órfãs e Luiza Paiva de Andrada), celebrado a 31 de dezembro de 1943.
146
Untitled-18 146
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Recreio e aula no Instituto de São Pedro de Alcântara [Arquivo da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria]
meninas, mas segundo critérios que foram sendo adaptados ao longo do tempo, tendo em conta as novas funções a que se destinou o Instituto. As admissões passaram a ter um âmbito nacional, sendo precedidas de inscrição, entrevista e avaliação sociofamiliar, segundo os critérios dos instituidores dos dois estabelecimentos: orfandade (Recolhimento das Órfãs) e pertencerem a famílias que, tendo decaído na sua posição social por razões financeiras, não tivessem meios de dar sólida educação e ensinamentos práticos, literários e profissionais, com que pudessem ficar habilitadas a exercer uma profissão de acordo com a sua posição social (Instituto Luísa Paiva de Andrada). Podiam ainda ser admitidas outras situações, após avaliação, no caso de existirem vagas. 147
Untitled-18 147
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
Coro das Alunas do Instituto de São Pedro de Alcântara [Arquivo da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria]
À Congregação cabia o desempenho completo dos serviços de assistência educativa. “A organização da vida escolar foi sabiamente delineada pela Irmã Trindade mediante uma série de técnicas simples […] orientadas para a educação dos dons pessoais, para despertar e desenvolver o sentido de responsabilidade, o espírito de criatividade e de iniciativa, bem como o de colaboração no trabalho em equipas.”32
Mas, sem dúvida, o grande segredo do êxito da sua atuação foi o amor. Um amor que soube “corrigir sem ferir”, soube com respeito e delicadeza “endireitar o que estava torto e levantar o que estava caído”, que “perscrutava, para além das aparências, o íntimo dos corações” e que “estimulava, comunicando coragem, alegria e paz”33. Dizia muitas vezes às suas educandas: “Sois as meninas dos meus olhos…”, expressão
32. PUREZA, Ir. Maria da, A.M., Em tudo a vontade de Deus…, p. 213. 33. Idem, ibidem.
148
Untitled-18 148
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Alunas da Escola de Auxiliares Sociais de São Pedro de Alcântara [Arquivo da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria]
de ternura que as alunas mais antigas ainda hoje recordam, comovidas. A par dos programas académicos era ministrada a todas as educandas uma educação artística, estética e espiritual em que a música assumiu especial relevo. As aulas de canto coral foram instituídas, desde 1945, pela professora Olga Violante34 e o Coro das Alunas do Instituto de São Pedro de Alcântara foi considerado o melhor coro feminino de Lisboa de entre os coros dos vários colégios existentes na época. Também o canto gregoriano e polifónico era cultivado no Instituto, tendo como mestra de canto a Irmã Nuno de Santa Maria35. O canto gregoriano era praticado diariamente por todas as alunas, durante cerca de meia hora, antes do começo
NO VERÃO DE 1943, O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINIS DA FONSECA, RESOLVE CONFIAR A EDUCAÇÃO E ENSINO DAS INTERNADAS DO RECOLHIMENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA ÀS RELIGIOSAS DA CONGREGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE MARIA”
34. A professora Olga Violante (1902-1969) viria a criar o Coro da Fundação Gulbenkian em 1964 e chegou a gravar em disco com o Coro das Alunas do Instituto de São Pedro de Alcântara e a Orquestra de Câmara da Universidade Clássica de Lisboa o Stabat Mater de Pergolesi, dando vários concertos com esta obra em várias igrejas de Lisboa e na televisão. 35. A Irmã Nuno de Santa Maria foi uma brilhante aluna do Centro de Estudos Gregorianos, onde estudou sob a orientação de Júlia d’Almendra (1904-1992).
149
Untitled-18 149
28/08/15 12:01
| EDUCAÇÃO |
SOB A ORIENTAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE MARIA ESTABELECEU-SE NO INSTITUTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, ALÉM DO CURSO GERAL, UM CURSO PARA VISITADORAS E OUTRAS AGENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADO LOGO EM 1944” das aulas, para preparar as peças gregorianas da missa dominical36. Sob a orientação da Congregação da Apresentação de Maria estabeleceu-se, além do curso geral, um curso para visitadoras e outras agentes de assistência social, organizado em 194437. As alunas que terminavam o curso geral podiam ingressar no de assistência social, caso desejassem e mostrassem vocação. No ano letivo de 1946/47 o número de alunas do curso geral secundário passa a cem e as do curso de auxiliares sociais a sessenta38. O desempenho das auxiliares sociais formadas pelo Instituto de São Pedro de Alcântara foi de tal forma reconhecido e apreciado que, quando o Ministério do Interior decidiu criar uma Escola Oficial
de Auxiliares Sociais, foi proposto à Congregação da Apresentação de Maria a elevação do curso existente a escola oficial. A Escola de Auxiliares Sociais de São Pedro de Alcântara foi criada em 195339, competindo à Congregação, além da representação na comissão diretiva da Escola, a responsabilidade da sua direção técnica. A Congregação mantinha-se ainda como responsável pela direção e ensino do curso geral, equiparado ao 2.º ciclo dos Liceus, assim como pelo internato das alunas que frequentavam a Escola de Auxiliares Sociais e que não tinham residência em Lisboa. A Escola de Auxiliares Sociais funcionou até 1974, altura em que foram suspensas as atividades escolares por decisão governamental40. Procedeu-se a uma reforma do acordo estabelecido em 1943 entre a Misericórdia e a Congregação, principiando as internadas do Instituto de São Pedro de Alcântara a frequentar o ensino oficial nas escolas públicas da área. O Instituto passou a funcionar, nesse ano letivo de 1974/75, como um “Lar para jovens que estudam ou que iniciam a sua vida de trabalho”41. A partir de 1974, as Irmãs da Apresentação de Maria continuaram a sua obra de educação, acompanhando as meninas que frequentavam as aulas do 5.º ao 12.º ano de escolaridade, apoiando-as nos seus estudos e orientando a sua formação humana, nas suas vertentes moral e cristã, social e cultural, visando uma educação integral. O enquadramento pedagógico e educativo era realizado em pequenos “grupos de vida”, sob a orientação de uma educadora por cada grupo.
36. Algumas das alunas do Instituto aprofundaram os seus estudos na área da música e canto, como Idalete Giga, que fundou, em 1985, o Coro Capela Gregoriana Laus Deo, que incorpora ainda atualmente algumas ex-alunas do Instituto de São Pedro de Alcântara. Este coro participou no disco que está integrado no catálogo do Fundo Musical da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (editado em 1995). 37. AHSCML, Órgãos da Administração, Actas das sessões da Mesa da SCML, Livro 30, pp. 411-413, Acta de 1944-01-07, 16.ª deliberação. 38. AHSCML, Órgãos da Administração, Despachos Ministeriais, Livro 6, Despacho de 1946-10-22, que aprova a 11.ª deliberação da Sessão de Mesa da SCML de 1946-10-10. 39. Ver Portaria n.º 14 391, de 19 de maio de 1953, que cria a Escola de Auxiliares Sociais de São Pedro de Alcântara e a Portaria n.º 14 452, de 9 de julho de 1953, que aprova o respetivo Regulamento. 40. A Escola de Auxiliares Sociais de São Pedro de Alcântara foi suspensa por despacho do secretário de Estado da Segurança Social em 27 de setembro de 1974 e oficialmente extinta por Portaria n.º 150/83 de 14 de fevereiro, da Secretaria de Estado da Segurança Social. 41. Revisão do Acordo de Cooperação entre a Misericórdia de Lisboa e a Congregação da Apresentação de Maria para administração do Instituto de S. Pedro de Alcântara, de 1974-08-20.
150
Untitled-18 150
28/08/15 12:01
| HISTÓRIA E CULTURA |
Os critérios de admissão passaram a considerar, para além dos já referidos anteriormente, mais dois, a saber: a privação – temporária ou permanente – da família natural e a situação de desamparo, por motivo de trabalho de ambos os pais fora de casa, ou por dificuldades de acesso ao local de ensino. A Congregação da Apresentação de Maria manteve-se à frente do Instituto de São Pedro de Alcântara até 2012, ano em que se rescindiu o acordo de cooperação entre aquela Congregação e a Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa, agradecida pela atividade das Irmãs em favor das cerca de duas mil jovens que ao
longo de 69 anos “formaram para uma cidadania activa, desenvolvendo competências humanas, sociais, culturais e morais”42, prestou uma justa homenagem pública à Congregação, realizada em julho de 2012. O Instituto Luísa Paiva de Andrada e as jovens assistidas pela Santa Casa foram instalados num outro edifício, também propriedade da SCML, localizado em Lisboa. As Irmãs assumiram outros projetos, noutras obras assistenciais e educativas, sempre fiéis à missão da Congregação de “participar na missão do ensino da Igreja, pela educação cristã da juventude”43.
Ensaio de dança no claustro de São Pedro de Alcântara [Arquivo da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria]
42. 311.ª deliberação de Mesa, 20.ª Sessão Ordinária, de 2012-02-16. 43. Congregação da Apresentação de Maria, Regra de Vida, C 7.
151
Untitled-18 151
28/08/15 12:01
| PATRIMÓNIO |
MENTE, MATÉRIA E VIVÊNCIAS Algumas reflexões sobre a(s) forma(s) como concebemos o património Texto de Gonçalo de Carvalho Amaro [TÉCNICO SUPERIOR, DIREÇÃO DA CULTURA_SCML]]
152
Untitled-19 152
28/08/15 12:03
| HISTÓRIA E CULTURA |
Atualmente, quando falamos de património, estamos a referir-nos a uma ampla variedade de conceitos. Hoje, património não é apenas um sinónimo de preservação de elementos antigos, objetos, edifícios ou tradições. É também um discurso de poder, uma experiência e um sentimento. BREVE INTRODUÇÃO os últimos tempos assistimos a um aumento de abrangências na área do património por parte da UNESCO. Passámos de patrimónios móveis e imóveis a patrimónios naturais e recentemente intangíveis, nutrindo o conceito de património de um conjunto de elementos complexos como: cultura, identidade e memória, por exemplo. Tornou-se evidente que não só a UNESCO mas também as várias entidades de cada país que se dedicam à salvaguardada do património estão agora preocupadas com a proteção e incorporação de elementos intangíveis.
N
CONJUGANDO CONCEITOS COMPLEXOS Tendencialmente, quando se pensa na palavra património, existe uma associação, quase automática, a bens materiais do passado, monumentos antigos ou peças de museus. Efetivamente, não é tão estranho pensar assim, tendo em conta que só muito recentemente, e de forma paulatina, a UNESCO (organização fundada em 1945 e que tem a cargo a salvaguarda do pa153
Untitled-19 153
28/08/15 12:03
| PATRIMÓNIO |
FIGURA 1. Bandeira da UNESCO. Como se pode ver, o seu símbolo faz-nos recordar a arquitetura clássica
trimónio a nível mundial) começou a reconhecer outros elementos como patrimoniais1. De facto, se olharmos com atenção para a bandeira dessa instituição, podemos ver que a sua simbologia se relaciona com a ideia de monumento (figura 1). Este texto pretende sair um pouco desse estigma material e palpável, pretende conjugar a componente material e a humana, achando que as duas devem ser entendidas sob uma perspetiva simétrica, seguindo a proposta de Bruno Latour sobre a relação entre seres humanos e objetos. A nossa relação com o mundo é composta por intermediários e por hibridizações na forma como nos expressamos e interatuamos uns com os outros e com o meio (Latour, 1993). Parafraseando Bjornar Olsen, “sempre fomos cyborgs”, na medida em que, desde que nos conhecemos como espécie humana, sempre utilizámos objetos para suprir as nossas debilidades enquanto espécie (Olsen, 2012: 76), desde uma pedra talhada que nos permite caçar e defender dos animais selvagens a um bypass sem o qual não poderíamos viver. Voltando à mudança de paradigma do conceito de património, constatamos que este deixou, efetivamente, de ser apenas um termo ligado a aspetos materiais e a algo que significava, de algum modo, uma relação de valor. Se analisarmos em detalhe a etimologia da palavra património, vemos que esta provém do latim patrimonium, que se relaciona com o legado que nos foi deixado pelo pai e que, geralmente, se associa a bens cedidos em herança, isto é, que provém do passado (no campo do Direito são os bens pecuniários, no campo cultural os bens simbólicos ou materiais).
Não obstante, a palavra património também se pode apontar a algo atual, que ainda não é considerado herança ou memória, como podem ser, por exemplo, algumas das principais obras da arquitetura contemporânea: a Ópera de Sydney, o Cristo Redentor, as Torres Petronas, a Villa Savoye ou o Museu Guggenheim de Bilbau, entre outros. Talvez por essa razão, quando a UNESCO propôs, finalmente, a Convenção sobre a Proteção do Património Cultural e Natural, no ano de 19722, acrescentou à palavra património o adjetivo cultural, aspeto interessante, mas que acabou por atrair ao património uma enorme variedade de conceitos e responsabilidades que, fundamentalmente a partir de 2006, adquiriram uma extraordinária magnitude, tornando cada vez mais difícil identificar, velar e, sobretudo, proteger. Todos sabemos da dificuldade que os antropólogos, sociólogos e outros cientistas sociais têm em definir cultura e, principalmente, em delimitar as suas fronteiras e campos (Kahn, 1975, e Schoeder & Breuninger, 2005, por exemplo). Como nos diz Clifford Geertz (1973) – provavelmente o antropólogo que mais tempo dedicou a procurar uma definição de cultura, exata e abrangente –, a cultura é concebida como uma rede de significados estabelecidos socialmente, sendo considerada como um padrão historicamente transmitido de ideias representadas por símbolos, através dos quais os sujeitos comunicam, perpetuam e estendem o seu conhecimento e captura da realidade e das ações que se realizam dentro desta, em resumo, um mecanismo dos homens e das mulheres para controlar e compreender o entorno (Id., ibid: 45-47). Neste sentido, podemos englobar vários elementos, como costumes, linguagem, modos de ser, obras de arte e de pensamento, manifestações populares e a produção simbólica para o mercado. Em suma, na atualidade, quando falamos de património, estamos a referir-nos a uma ampla variedade de conceitos: bens materiais, imateriais e intan-
1. Referimo-nos ao património natural (1972) e ao património imaterial e das minorias étnicas (entre 2001 e 2006), por exemplo. 2. Atas da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em Paris de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972 [Em linha]. [Consult. 19 dez. 2013]. Disponível em: http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf.
154
Untitled-19 154
28/08/15 12:03
| HISTÓRIA E CULTURA |
gíveis, a comunidades humanas, às paisagens, aos ecossistemas e cultivos tradicionais. Fala-se de património local, nacional e também de património da humanidade. É frequente encontrar definições de património que afirmam que o património de uma nação é conformado pelo território que ocupa, a sua fauna, flora e todas as criações e expressões das pessoas que o habitaram e ainda habitam, as suas instituições sociais, legais e religiosas; a sua língua, a sua cultura material e imaterial desde as suas épocas fundacionais3. Apesar desta relação do património com a cultura, que já por si lhe dá um certo estatuto de complexidade, existem ainda outros conceitos com os quais o património pode ser identificado e que o tornam
histórica e até com a transigência (Guibernau, 1996). Conjugado com um adjetivo ou um advérbio, o significado de identidade passa a ter múltiplas aceções: convenhamos que não é a mesma coisa falar de identidade nacional, identidade de género ou identidade etária. A memória, por outro lado, é algo que relacionamos com mudança, com um tempo histórico, um evento que tem uma origem e que se vai madurando, transformando e adulterando (Nora, 1989: 8). Para Luis Buñuel, uma “vida sem memória não seria vida”, pois esta gera toda a coerência do nosso ser, “sem ela não somos nada” (Buñuel, 1982: 14). Poderíamos, então, considerar que falar de património não é apenas falar de monumentos grandio-
FALAR DE PATRIMÓNIO NÃO É APENAS FALAR DE MONUMENTOS GRANDIOSOS OU RELÍQUIAS DO PASSADO, É TAMBÉM FALAR DE PESSOAS E DE LEGADOS num fenómeno ainda mais complexo – referimo-nos, essencialmente, à identidade e à memória. Refletir sucintamente sobre os conceitos de identidade, memória e cultura, conjugando-os com o património, não é tarefa fácil. Trata-se de conceitos com uma semântica ampla e difusa, cujos escopos e significados dependem, grosso modo, do contexto no qual são usados, bem como do ponto de vista de quem os utiliza. São, essencialmente, conceitos operativos que carecem de uma definição inviolada. Poderíamos, inclusivamente, referir que se trata, em certo sentido, se os analisamos em separado, de conceitos contraditórios. O termo identidade, por exemplo, provém etimologicamente do latim identitas, que se relaciona com a qualidade do idêntico, aquele que permanece sempre igual a si mesmo, que não muda. Não obstante, é frequente, na modernidade, relacionar o tema da identidade com a mudança – aspeto que aprofundaremos mais à frente –, com a evolução
sos ou relíquias do passado, é também falar de pessoas e de legados, de uma herança que se recebe e que contribui para a continuidade identitária de uma família, sociedade ou de uma nação. Segundo esta proposta, tudo o que nos rodeia poderia ser considerado ou constituir-se como património. Os elementos materiais e imateriais que socialmente se definem como imperativos de preservação e que são altamente valorizados para a transmissão da cultura e identidade de uma comunidade, região ou país. QUANDO O TANGÍVEL SE TORNA INTANGÍVEL Como já mencionámos anteriormente, existe agora uma maior preocupação da UNESCO, e das várias entidades de cada país que se dedicam à salvaguardada do património, com a proteção e incorporação de elementos intangíveis. Contudo, esta separação entre patrimónios (tangíveis e intangíveis), aparentemente, apenas serve para
3. Ver Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, Paris, 17 de outubro de 2003 [Em linha]. [Consult. 19 dez. 2013]. Disponível em: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Portugal-PDF.pdf.
155
Untitled-19 155
28/08/15 12:03
| PATRIMÓNIO |
FIGURA 2. Mapa do Património Mundial, UNESCO. Disponível em:http://whc. unesco.org/en/ interactive-map/ [Consult. 19 dez. 2013]
categorizar elementos, pois, na sua essência, o património é fundamentalmente intangível, uma vez que, na realidade, acabam por ser fatores intangíveis os principais determinadores do interesse patrimonial sobre os elementos tangíveis (Ballart, 1997, e Ballart & Juan-Tresseras, 2001). Como nos indica John Carman, o aspeto fundamental que subjaz sobre um objeto patrimonial é o valor que lhe é atribuído por uma cultura. O que nos faz considerar um objeto património, mais do que qualquer coisa, são qualidades intangíveis que ele representa e que nós valorizamos (Carman, 2009: 197). Poder-se-ia, assim, afirmar que algo só passa a ser considerado património se logra passar pelo “crivo sentimental” das pessoas. Segundo essa perspetiva, o património não tem necessariamente de ser algo grandioso: por exemplo, para uma família pode ser muito mais importante o relógio que pertenceu a um antepassado do que o monumento que se encontra em frente da sua casa. Situações similares ocorrem quando o património passa do âmbito pessoal ou individual para o coletivo. Neste caso, damo-nos também conta de que o património não é uma “entidade” lógica e neutra, podendo constatar-se que apenas é considerado património aquilo que um número importante de pessoas (entendendo-se tanto num âmbito de quantidade, como de importância das pessoas) considera, pelas mais diversas razões, valioso e que merece ser preservado. Nesse sentido, poderíamos afirmar que existem fatores intangíveis que são determinantes na forma
como concebemos o património. Poderíamos resumir esses fatores a dois conceitos referidos anteriormente: identidade e memória. O primeiro reveste-se de importância na medida em que a identidade e contexto de cada cultura determinam a forma como se vê o património, e a segunda porque enquadra o património na nossa conceção do mundo, conjuga e concilia o presente com o passado. Nos últimos tempos têm aumentado as análises críticas ao conceito de património, estudos que, de um modo geral, se têm preocupado em analisar os discursos e atuações por detrás da referida noção. A UNESCO, desde os seus inícios, lançou as bases para a criação de um património mundial, um património que pertencia a todos e devia ser protegido por todos. No entanto, essa proposta não representava a visão de todos, era, fundamentalmente, uma perceção dos países do hemisfério norte, particularmente dos países membros da NATO. Como é óbvio, tendo em conta o contexto histórico das duas instituições, podemos compreender que essa perspetiva apresentava uma clara tendência pela valorização de elementos relacionados, essencialmente, com a cultura europeia. Como se pode constatar através do mapa do património mundial (figura 2), a maior parte dos sítios apresenta uma concentração superior na Europa e, inclusivamente, nos outros continentes existe uma predominância de sítios relacionados com a presença europeia nesses países. Por outro lado, é também extremamente complicado criar um conceito de património global, uma vez que, como referimos anteriormente, o património é essencialmente um conceito intangível, sendo que cada cultura pode ter uma proposta distinta sobre o que ele pode representar para ela. Também se pode constatar que entre os próprios especialistas do património circula a noção de que é impossível encontrar uma definição universal (Hernandez et al., 2005: 23), também porque existe uma tra-
156
Untitled-19 156
28/08/15 12:03
| HISTÓRIA E CULTURA |
dição de que o património é algo que se relaciona com individualidades nacionais ou culturais, isto é, um background que, por norma, é separador e não unificador. Como, aliás, transparece indiretamente na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, publicada em 2002, onde é transmitida a seguinte visão sobre a cultura, definindo-a como: “[…] o conjunto de rasgos distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caraterizam uma sociedade ou um grupo social e que abarca, para além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”. (Introdução – Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural UNESCO, 2002). Para compreender melhor a perspetiva ocidental sobre o património, teríamos de retroceder ao século xviii, aos processos que deram origem às revoluções americana e francesa e à sua posterior afirmação, a uma necessidade de proteger os bens das elites que agora passavam a pertencer ao povo (Choay, 2007). Outro aspeto relevante, e também ele contemporâneo destes acontecimentos, foi a criação dos Estados-nação. Com eles passaram a existir novas
A DESTRUIÇÃO DOS BUDAS DO VALE DE BAMIYAN, NO AFEGANISTÃO, PELO GOVERNO TALIBÃ, REPRESENTOU, FUNDAMENTALMENTE, UMA MANIFESTAÇÃO DE PODER EM RELAÇÃO AO RESTO DO MUNDO regras para identificação de um país. O monarca deixou de ser a figura de união; agora era o país, cuja essência residia na língua, na etnicidade e nas semelhanças culturais (Jones, 1997). Nesse sentido, o património cultural representava uma caraterística separadora e não um elemento que unifica, como a UNESCO pretende transmitir hoje em dia. Essa tradição de património relacionado com a essência de uma nação perdurou – na maioria dos países ocidentais – até praticamente à década de cinquenta do século passado. O património e as disciplinas a si associadas – Arqueologia, Antro-
FIGURA 3. Destruição dos budas do vale de Bamiyan, no Afeganistão. Fotografia de Graciela González Brigas (UNESCO)
pologia e História – serviam para justificar e delimitar fronteiras físicas e geográficas, independências, superioridades, origens culturais e conflitos. O trauma da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de preservar os monumentos de conflitos cada vez mais destrutivos (a UNESCO surge ainda no rescaldo da bomba atómica), mas também – e este aspeto aparece um pouco nas entrelinhas – a necessidade de afirmação cultural da velha Europa frente ao Bloco de Leste e à emancipação colonial, levaram à criação desta ideia generalizadora de património, controlada pelo Ocidente. 157
Untitled-19 157
28/08/15 12:03
| PATRIMÓNIO |
Um dos exemplos mais conhecidos de uma contestação aos valores ocidentais sobre o património está relacionado com a destruição dos budas do vale de Bamiyan, no Afeganistão (figura 3), pelo governo talibã. Esta destruição per se evidencia outros elementos em jogo, em relação a este bem patrimonial. Em termos de poder político e religioso, para os
em conta este aspeto, faz todo o sentido considerar o património como um processo de intangíveis e tangíveis. Não é um objeto, um monumento, um lugar ou algo especial. Poderíamos dizer que o património é composto por uma multiplicidade de processos de significação, onde os aspetos materiais e imateriais são identificados, definidos, geridos, expostos e visi-
O PATRIMÓNIO É COMPOSTO POR UMA MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO, ONDE OS ASPETOS MATERIAIS E IMATERIAIS SÃO IDENTIFICADOS, DEFINIDOS, GERIDOS, EXPOSTOS E VISITADOS talibãs, estas estátuas recordavam uma memória que não se adequava aos seus propósitos atuais, uma memória de um passado onde estava presente outra religião. A destruição dos budas representou, fundamentalmente, uma manifestação de poder em relação ao resto do mundo. O mesmo mundo que lhes implorava que não rebentassem com os budas mas que, ao mesmo tempo, lhes negava a existência como legítimos representantes do poder político afegão (Meskell, 2002). Deste modo, os budas e a sua destruição representam uma declaração de intolerância religiosa, violência simbólica e de imposição cultural a partir de um grupo hegemónico. Assistimos também, apesar da existência de uma normatização universal, a como as organizações que zelam pelo património apresentam distintas formas de atuação e, geralmente, se deixam influenciar por pressões e interesses externos. As mesmas organizações que levaram à proteção de vários monumentos egípcios face à barragem de Assuão, mas que, muito possivelmente, impediram uma intervenção mais efetiva no caso dos budas de Bamiyan e, no caso português, à dualidade de critérios aplicados à arte rupestre do vale do Coa e à do vale do Tejo. Fatores que nos levam a concluir que o património não é um conceito neutro e que, tanto este como as tradições, podem ser facilmente manipulados e, inclusivamente, inventados, como ocorreu por diversas vezes no Ocidente (Hobsbawm, 2009). Tendo
tados (Smith, 2011). Ao fim e ao cabo, um ato de valorização individual ou coletivo, construído por sentimentos e vivências experienciadas e impostas, tanto no âmbito pessoal ou familiar, como no âmbito do Estado ou grupo no qual nos inserimos. A identidade sobressai dessa identificação com os elementos que valorizamos e consideramos património, elementos esses que estão assentes na memória do que nos foi ensinado e vivenciado, tudo isto num constante procedimento de negociação entre presente e passado (Harvey, 2001). CONSTRUINDO UMA CULTURA DO PATRIMÓNIO Criar conceitos e definições sobre património não é tarefa fácil. Como nos diz Vítor Oliveira Jorge, o património é uma palavra que nos deixa uma sensação de desconforto, é um tema sobre o qual já se disse tudo e, todavia, ainda parece que não se disse nada (2000: 19). Esta afirmação parece-nos bastante acertada e enquadra-se na perspetiva que temos vindo a defender, de que o património é um conjunto de relações entre tangíveis e intangíveis e entre seres humanos e objetos, sendo que os processos de significação pessoal e coletiva representam o seu principal eixo, e que implica uma situação de tensão entre a razão e o sentimento, entre a reflexão e a vivência (Prats, 1997: 14). Nesse sentido, dependendo de quem e em que contexto se realiza, encontra-
158
Untitled-19 158
28/08/15 12:03
| HISTÓRIA E CULTURA |
remos distintas versões sobre o que é e pode ser o património cultural (Hernandez et al., 2005: 23). A chamada de atenção dos colegas japoneses para o que se passava com os templos de Ise Jingu – considerado pelos próprios o principal sítio patrimonial do país –, ausentes da lista da UNESCO precisamente porque não se enquadram nas perspetivas ocidentais de autenticidade, uma vez que os templos são reconstituídos cada vinte anos (procedimento repetido 61 vezes desde a sua fundação, no ano de 690 da nossa era) e não representam uma antiguidade física duradoura: elemento outrora fundamental para as classificações da UNESCO. Para terminar,
podemos então concluir que o conceito atual de património não é apenas um sinónimo de preservação de elementos antigos, objetos, edifícios ou tradições, é mais do que isso, é também um discurso de poder, uma experiência e um sentimento, de tal modo que, para ser compreendido, deve existir uma abertura multidisciplinar, um abandono das fronteiras imutáveis da disciplina, pois, na sua essência, os estudos de património atuais representam uma diversidade de conceitos e estruturas que só podem ser entendidos e desenvolvidos a partir de uma base interdisciplinar, capaz de compreender esta rede de processos entre mente e matéria, pessoas e objetos.
BIBLIOGRAFIA BALLART, J. (1997). El Patrimonio Histórico y Arqueológico: Valor y Uso. Barcelona: Ariel. BALLART, J. & JUAN-TRESSERAS, J. (2001). Gestión del Patrimonio Cultural. Barcelona: Ariel. BUÑUEL, L. (1982). Mi Último Suspiro. Barcelona: Plaza & Janes. CANDAU, J. (2006). Antropología de la Memoria Colectiva. Buenos Aires: Nueva Visión. CARMAN, J. (2009). “Where the value lies. The importance of materiality to immateriality aspects of Heritage”. In Marie Sorensen and John Carman (eds.) Heritage Studies Methods and Approches, pp. 192-208. CHOAY, F. (2007). Alegoría del Patrimonio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. UNESCO (2002). UNESCO. GEERTZ, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Method and Theory. Vol. 12, N.º 3, pp. 193-211. GUIBERNAU, M. (1996). Los Nacionalismos. Barcelona: Ariel. HARVEY, D. (2001). “Heritage pasts and heritage presents: temporality, meaning and the scope of heritage studies”. In International Journal of Heritage Studies, 7 (4), pp. 319-338. KAHN, J. S. (1975). El Concepto de Cultura: Textos Fundamentals. Barcelona: Anagrama. HERNANDEZ, I; MARTI, G.M.; SANTAMARINA CAMPOS, B; MONCUSI FERRÉ, A. & ALBERT RODRIGO, M. (2005). La Memoria Construida. Patrimonio Cultural e Modernidad. Valencia: Tirant lo Blanch. HOBSBAWM, E. (2009). “Introduction: Inventing traditions”. In Eric Hobsbawm and Terrence Ranger (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 17.ª ed. pp. 1-14. JONES, S. (1997). The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. London&New York: Routlege. LATOUR, B. (1993). We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press. [trad. Catherine Porter]. MESKELL, L. (2002). “Negative heritage and past mastering in archaeology”. In Anthropological Quarterly, 75(3), pp. 557-74. NORA, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations, 26, pp. 7-24. OLIVEIRA JORGE, V. (2000). Arqueologia, Património e Cultura. Lisboa: Instituto Piaget. OLSEN, B. (2012). “O regresso das coisas e a selvajaria do objecto arqueológico”. In Godofredo Pereira (ed.) Objectos Selvagens. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda. pp. 71-83. PRATS, L. (1997). Antropología y Patrimonio. Barcelona: Ariel. SCHOEDER, G. & BREUNINGER, H. (2009). Teoría de la cultura. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. SMITH, L. (2011). El ‘espejo patrimonial’ ¿Ilusión narcisista o reflexiones múltiples?. Antípoda, Vol. 12, pp. 39-63.
159
Untitled-19 159
28/08/15 12:03
| REABILITAÇÃO |
PATRIMÓNIO de pessoas
para pessoas Texto de Helena do Canto Lucas [DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO IMOBILIÁRIA E PATRIMÓNIO_SCML]
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa distingue-se como uma instituição de referência, que encontrou na reabilitação do seu extenso património imobiliário mais uma forma de realizar a sua missão social. Inovar para construir um futuro melhor é o objetivo da Santa Casa do século xxi.
H
á mais de cinco séculos que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) cuida daqueles que se encontram em situação mais vulnerável, um trabalho que tem sido reconhecido por centenas de beneméritos que, ainda hoje, lhe confiam bens para fins solidários. A Santa Casa é detentora de um vasto e diversificado património imobiliário, sobretudo em Lisboa, mas que se estende por todo o território nacional. Património que resultou, em cerca de 93%, da confiança dos seus beneméritos, que entregaram à instituição os seus bens, na certeza de serem colocados ao serviço de quem mais precisa.
Em muitos destes edifícios estão instalados lares, creches, unidades de saúde e demais serviços da SCML, de que são exemplo a Residência Faria Mantero, o Hospital de Sant’Ana, a Unidade de Saúde Dr. José Domingos Barreiro, o CAI Vítor Manuel, a Mitra, entre muitos outros. Outra parte do património imobiliário da instituição destina-se ao arrendamento para habitação e serviços (comércio e escritórios). De épocas e tipologias muito variadas, o património da SCML constitui um testemunho da memória coletiva da instituição e expressa, em simultâneo, a evolução da arquitetura portuguesa entre os séculos xvi e xxi.
160
Untitled-20 160
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
Ao Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP) compete gerir todo o património da SCML, respeitando as obrigações assumidas com os beneméritos, e gerar as receitas respetivas, que constituem uma das principais fontes de rendimento para a concretização das “Boas Causas” apoiadas pela instituição. Esta confiança acarreta uma grande responsabilidade, pelo que assumimos o compromisso de preservar, reabilitar e rentabilizar este património, com a finalidade de gerar receitas que permitam promover as causas apoiadas pela Santa Casa nas áreas da ação social, da saúde, da educação e da cultura. Constitui, assim, um dever intemporal desta instituição cuidar do seu património, através da sua conservação, manutenção e reabilitação. Hoje, como nunca no nosso país, a reabilitação urbana deve ser a palavra de ordem para quem tem responsabilidades na gestão de património imobiliário. A aposta na reabilitação ganhou também um novo argumento: o contributo que pode dar para a reanimação da economia nacional, particularmente no setor da construção civil, muito fustigado pela crise.
É preocupação deste departamento a entrega dos seus projetos e obras a um maior número possível de gabinetes de arquitetura e especialidades, bem como a empresas de construção civil, assumindo um papel fundamental no incentivo à dinâmica desta área de desenvolvimento económico. A reabilitação do edificado da SCML permite, também, trazer mais gente e mais vida ao centro urbano contribuindo para o rejuvenescimento da cidade. Novos desafios são colocados diariamente ao Departamento de Gestão Imobiliária e Património da Santa Casa, composto por uma equipa multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, juristas, técnicos e operários, num total de 120 pessoas que coexistem atualmente no mesmo espaço físico, com todas as sinergias daí decorrentes. O balanço da reestruturação interna do departamento que integra a Direção de Património e a Direção de Projetos e Obras resultou na constituição de uma equipa de trabalho altamente qualificada, com uma forte cultura de serviço e excelente capacidade de se adaptar aos novos desafios da Santa Casa do século xxi. 161
Untitled-20 161
28/08/15 12:05
| REABILITAÇÃO |
À Direção de Património compete gerir, valorizar e rentabilizar os bens imóveis da SCML, estabelecendo prioridades de intervenção nos mesmos, promovendo o seu arrendamento e assegurando a gestão dos respetivos contratos. À Direção de Projetos e Obras cabe elaborar, executar e acompanhar os projetos de reabilitação e as respetivas obras, de forma integrada, inovadora e equilibrada, tendo em consideração a qualidade, o conforto, a sustentabilidade e a durabilidade de todas as intervenções inerentes. Deste esforço conjunto de integração, articulação e dinamização da equipa, resultam novas metodologias de trabalho que privilegiam a coordenação e execução interna de parte significativa dos projetos de arquitetura, bem como das ações de manutenção e conservação, com o objetivo de garantir uma resposta adequada às necessidades dos vários equipamentos da Santa Casa e dos edifícios de rendimento. Durante o ano de 2014, foram desenvolvidos 33 projetos internos de arquitetura, o que permitiu maximizar a capacidade produtiva dos recursos humanos do departamento, com impacte na autossustentabilidade e eficiência na gestão da instituição.
MICROSITE PATRIMÓNIO O DGIP, em articulação com a Direção de Comunicação e Marketing da SCML, lançou um microsite (http://microsite.scml.pt/reabilitar) com o objetivo de dar a conhecer a atividade desenvolvida pela instituição neste setor e a atual dinâmica de atuação da SCML na valorização do seu extenso património. Este espaço de comunicação permite um acompanhamento público da evolução dos projetos e obras em curso, o acesso à galeria dos edifícios já reabilitados e de outros que estão previstos intervencionar no âmbito do Programa de Reabilitação Urbana da SCML. Privilegia-se, igualmente, a utilização deste meio na divulgação e promoção dos imóveis disponíveis (http://www.scml.pt/pt-PT/areas_de_intervencao/ patrimonio/arrendamentos). SANTA CASA OPEN HOUSE “Santa Casa Open House” é outra nova iniciativa do Departamento de Gestão Imobiliária e Património da SCML, que tem como objetivo dar a conhecer os edifícios reabilitados e promover o seu arrendamento, assumindo um novo posicionamento no mercado como gestora e promotora do seu património imobiliário.
EM 2014 FORAM TRAÇADOS NOVOS RUMOS NA ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA SANTA CASA O planeamento das intervenções requer também um esforço conjunto de toda a equipa, de modo a poderem ser estabelecidos padrões e normas que assegurem o cumprimento das exigências legais, a modernização de funcionalidades e a adequação do uso dos espaços às limitações físicas de cada edifício. Adequar a construção original dos edifícios às necessidades de habitabilidade atuais, preservando a sua identidade, traduz o conceito-base dos projetos de reabilitação desenvolvidos pela SCML.
O edifício reabilitado da Rua Barão de Sabrosa assinalou o arranque desta iniciativa que, no dia 15 de novembro 2014, abriu portas ao público para dar a conhecer os apartamentos disponíveis para arrendamento. A encerrar o ano de 2014, a 2ª edição Santa Casa Open House, realizada no dia 6 de dezembro, devolveu ao tradicional bairro Campo de Ourique um novo edifício na Rua Silva Carvalho. Em 2015, foi prosseguido este evento com o lançamento da sua 3ª edição, no dia 11 de abril, para apresentação ao público do primeiro imóvel
162
Untitled-20 162
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
reabilitado pela Santa Casa em pleno coração do Bairro Alto, na Travessa da Boa-Hora. Uma iniciativa one-to-one que irá prolongar-se ao longo do ano para devolver à cidade outros edifícios reabilitados pela instituição em vários locais privilegiados da capital, permitindo um contacto personalizado entre a Santa Casa e os seus potenciais arrendatários. As informações recolhidas pelos visitantes neste evento são também cruciais à segmentação do mercado de acordo com o seu perfil, fornecendo inputs úteis à eventual redefinição da estratégia de reabilitação e gestão do património da SCML.
• intervenção imediata: limpeza e fecho de paramentos, evitando uma maior degradação dos edifícios, bem como a garantia de salubridade e defesa da saúde pública, operações a executar enquanto estão a ser planeados e/ou desenvolvidos os projetos de reabilitação respetivos; • intervenção ligeira: realização de obras de manutenção, nomeadamente pinturas, pequenas reparações em acabamentos e limpeza de telhados; • intervenção média: visa assegurar obras nas partes comuns, ao nível das infraestruturas, acabamentos, vãos, caixilharias, pinturas, reparação de coberturas e obras no interior das frações para melhoria das condições de habitabilidade; • intervenção profunda: pressupõe a realização de obras estruturais, bem como a execução de projetos de arquitetura e especialidades desenvolvidos no âmbito das necessidades identificadas nos edifícios em causa; • demolição: tipo de intervenção indicada para os edifícios em ruína ou em muito mau estado, sem interesse urbanístico, arquitetónico ou cultural, tanto individualmente como para o conjunto que integram.
MICROSITE Património SANTA CASA Open House
EDIFÍCIO REABILITADO Calçada da Tapada
CUIDAMOS DO NOSSO PATRIMÓNIO Considerando o vasto património existente e o seu estado atual de conservação, o DGIP está a promover uma estratégia global de planeamento e intervenção faseada nos seus imóveis. De forma a garantir a preservação, a manutenção, a conservação, a reabilitação e o aumento da rentabilidade deste extraordinário ativo estão a ser adotados distintos níveis de intervenção, com o seguinte detalhe: 163
Untitled-20 163
28/08/15 12:05
| REABILITAÇÃO |
MITRA, Alameda das Laranjeiras
Esta metodologia permitirá à SCML, a médio prazo, intervir transversalmente em todo o património e elaborar um planeamento estruturado, financeiramente sustentável e tecnicamente exequível. No ano de 2014 foram traçados novos rumos na estratégia de reabilitação do património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através de uma intervenção mais abrangente, privilegiando-se o estudo, planeamento, conceção e desenvolvimento de alguns projetos de conceito inovador nas áreas da ação social e cultura, como forma de dinamização do tecido urbano e económico. A intergeracionalidade é a base das nossas intervenções através da qual procuramos reforçar ligações humanas e criar uma nova dinâmica entre gerações. Este conceito inovador possibilita a interação de pessoas de várias faixas etárias em espaços projetados para este fim. Deste modo pretendemos garantir a passagem de tradições e culturas, de conhecimentos e de novas formas de estar, contribuindo para a promoção do envelhecimento ativo, para o combate à exclusão social, para o enriquecimento cultural dos mais jovens e para terminar com os guetos geracionais.
PATRIMÓNIO E AÇÃO SOCIAL Na reabilitação do património que será afeto à área da ação social, a Mitra – antigo albergue situado na zona oriental da cidade cedido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – e o prédio da antiga fábrica da Nestlé em Monsanto, edifício devoluto recentemente doado à Santa Casa, são dois projetos intergeracionais inovadores cujas intervenções irão contribuir para diversificar a oferta social na cidade e acrescentar valor aos seus utentes. Mitra Autor: Projeto interno SCML Sob o lema “Um olhar atento 24h sobre a cidade”, o programa de reestruturação da Mitra contempla a abertura de um novo polo social a todos os lisboetas, transformando este local, conhecido por abrigar população indigente da cidade, num centro de apoio aos cidadãos, sem estigmatizar públicos vulneráveis, com a oferta de cuidados de saúde 24 horas por dia nos 365 dias do ano. Novos tempos exigem novas respostas sociais e outras exigências. Por isso, a Santa Casa pretende
164
Untitled-20 164
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
atuar com novas abordagens respondendo a flagelos sociais como o desemprego, a desestruturação da economia familiar, o isolamento dos mais idosos, as desigualdades no acesso à saúde e à educação, a pobreza extrema. A estratégia de reabilitação deste espaço irá abranger não só todo o edificado da Mitra, como também a exploração agrícola da Quinta adjacente, pondo em marcha um projeto intergeracional único que se pretende de excelência no apoio e integração da população sem-abrigo da cidade de Lisboa e de outros públicos vulneráveis. Um modelo inovador que integra 12 projetos com novas respostas sociais sustentáveis, tendo como desígnios aproximar os públicos mais vulneráveis da comunidade e fomentar a intergeracionalidade. Um restaurante (que servirá de polo de formação); residências (que poderão acolher situações de emergência para qualquer cidadão); uma creche; espaço multiusos; acolhimento de emergência para crianças e jovens em risco; uma lavandaria (que utilizará a
Casa é orientado no sentido das melhores práticas de inovação e sustentabilidade, combinando soluções técnicas economicamente viáveis e adequadas à conceção arquitetónica do edificado. Perspetivar o funcionamento dos espaços privilegiando o recurso a fontes de energia renovável sempre que o investimento na necessária infraestrutura se demonstre comportável; a monitorização contínua dos indicadores de eficiência energética em todos os espaços do edificado que contribuam para a melhoria de processos e práticas; a segurança e fiabilidade das instalações em termos de exploração e manutenção; ou a pré-instalação de infraestruturas que integram a estratégia energética definida para a Mitra que, mesmo não sendo viáveis no presente, possam sê-lo no futuro próximo, e assegurar a minimização dos custos de operação durante o ciclo de vida do edificado, são apenas alguns dos princípios orientadores que estão na génese do atual e futuro programa de intervenção da Mitra.
A RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURAL ORIENTA A SANTA CASA NA RECUPERAÇÃO DO SEU PATRIMÓNIO água pluvial que cai nas coberturas da Mitra e à qual poderão recorrer utentes e a comunidade em geral); a quinta (que será vocacionada para a produção hortícola e empregará utentes); o centro psicogeriátrico, entre outros projetos com um forte elemento de inovação e inclusão social, destinados a apoiar um universo com mais de quinhentas pessoas. A primeira fase de intervenção, em curso, engloba a reabilitação das coberturas do edificado, fachadas e infraestruturas. Face ao seu atual estado de degradação, todo o edificado da Mitra terá também de responder aos desafios da sociedade em termos de ecoeficiência. Ou seja, recriar a Mitra como um espaço inovador nas dimensões social e ambiental. O projeto de reabilitação do edificado da Mitra levado a cabo por equipas internas do DGIP da Santa
A par da eficiência energética, o novo polo de inovação social poderá constituir-se também como uma referência no modo como integra o ciclo de água urbano, considerando que se pretende associar à identidade da nova Mitra caraterísticas relacionadas com o conforto e o prazer de permanência em espaços exteriores na presença de água em movimento. Decorre das principais conclusões dos estudos preliminares já efetuados que é possível disponibilizar com segurança na Mitra a água proveniente de quatro origens, cada qual a ser utilizada nas atividades adequadas: água potável; água pluvial, cujo tratamento permitirá a respetiva utilização para a lavandaria; água da mina, destinada apenas a usos não potáveis, ideal para a rega na quinta e lavagem de superfícies urbanas, 165
Untitled-20 165
28/08/15 12:05
| REABILITAÇÃO |
EDÍFICIO da antiga fábrica da Nestlé, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa
e a água cinzenta reciclada, que após o devido tratamento servirá, por exemplo, na descarga de sanitas. O programa em curso desenvolvido pela Santa Casa para a nova Mitra assenta num projeto ambicioso e vanguardista que transformará este espaço num novo lugar da cidade. De todos e para todos. Um projeto de intervenção inovador centrado nas pessoas e no bem-estar dos utentes, que irá contribuir simultaneamente para a sustentabilidade no seu todo.
Prédio de Monsanto Situada no limiar do Parque Florestal de Monsanto, a antiga fábrica da Nestlé foi doada à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por esta empresa para a concretização de um projeto de inovação social, através de protocolo assinado em 8 de outubro de 2014. A proposta de reabilitação deste edifício pressupõe a implantação de uma estrutura residencial assistida para seniores e pessoas com mobilidade reduzida, originada por doença ou acidente, de forma a garantir os objetivos de transição e adaptação para uma vida em sociedade, promovendo paralelamente a intergeracionalidade. Um projeto que procura reforçar ligações humanas, bem como estimular a inclusão e a integração destas pessoas. Assim, deverão ser disponibilizadas neste local estruturas que privilegiem o conforto e as respostas terapêuticas adequadas, nomeadamente quartos individuais e duplos, um conjunto de apartamentos, um centro de bem-estar e a construção de uma piscina adaptada para estes utentes. O centro de bem-estar também poderá ser utilizado por outros beneficiários da Santa Casa. A envolvência do edificado
GALERIA de exposições temporárias do Museu de São Roque
166
Untitled-20 166
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
com o parque florestal permite, também, a promoção de atividades exteriores que proporcionem uma relação direta com a natureza, contribuindo para a saúde, bem-estar e o convívio dos seus utentes. PATRIMÓNIO E CULTURA No património cultural, a ampliação do Museu de São Roque com a construção de uma nova galeria de exposições temporárias e a reabilitação de património classificado que inclui os projetos de intervenção no Palácio de São Roque, no Palácio Marquês de Tomar e no Convento de São Pedro de Alcântara, têm como finalidade dar uma nova vivência ao Bairro Alto com o rejuvenescimento do Largo Trindade Coelho e da Rua de São Pedro de Alcântara. A nova galeria de exposições temporárias Autor: Intertraço, Lda - Arq. Carlos Pietra Torres De 1993 a 2004, a galeria de exposições temporárias do Museu de São Roque foi regularmente dinamizada com exposições temporárias temáticas relacionadas com o acervo patrimonial da SCML. Em 2005 foi encerrada e, em 2006, sofreu algumas adaptações para funcionar provisoriamente como espaço de reservas durante o período em que decorreu a obra de ampliação e de remodelação do Museu de São Roque. A reabertura da galeria de exposições temporárias da Santa Casa ocorreu em 10 de julho de 2014 e foi inaugurada com a exposição “Visitação. O Arquivo como memória e promessa”, pretendendo retomar uma dinâmica regular de exposições que permitem valorizar e divulgar o património cultural e artístico da Misericórdia de Lisboa, bem como promover sinergias com outras instituições nacionais e internacionais. Com uma área de exposição aproximada de 250 m2 e ocupando uma zona abobadada seiscentista, a nova galeria integra uma receção, uma zona técnica e uma zona de verificação de peças, fazendo-se agora o seu acesso junto à sacristia da Igreja de São Roque que recupera a sua função original de pátio seiscentista. As intervenções realizadas incluíram, além da ampliação do espaço, a instalação de um sistema
de ventilação e diversas beneficiações ao nível das abóbadas, paredes e pavimentos. Para além de terem sido melhoradas as condições de exposição e de acolhimento do público, foram criadas novas infraestruturas de apoio, como instalações sanitárias para o público, a criação de acessos para pessoas com necessidades especiais e espaços destinados ao armazenamento e embalagem de materiais de apoio à montagem de exposições. Esta intervenção permitiu dinamizar a atividade cultural da SCML e potenciar a sua identidade, encerrando em si a captação de novos públicos e a geração de receitas. O investimento realizado na requalificação da galeria de exposições temporárias enquadra-se nesta convicção de que nada como a cultura pode facilitar a sustentabilidade social, a inclusão, o envelhecimento ativo e até a integração de crianças e adolescentes vulneráveis.
CORTE longitudinal do edifício do Palácio de São Roque, no Bairro Alto, em Lisboa
Palácio de São Roque Autor: Arq. J. P. Falcão de Campos, Arquitetos Situado no Largo Trindade Coelho, este palácio constitui um exemplar notável da arquitetura civil palaciana de Lisboa, que remonta a meados do século xvii, período do qual deveria fazer parte o contíguo Palácio Marquês de Tomar. O edifício é alvo de um estudo para dar resposta programática e funcional com o intuito de potenciar as valências do Palácio de São Roque, devolvendo a dignidade inerente a este edifício. O estado atual do palácio requer uma obra global de reabilitação identificando soluções que sirvam o propósito de recuperar o edifício sem o descaraterizar, assim como uma reestruturação espacial de acordo com um programa funcional que pretende 167
Untitled-20 167
28/08/15 12:05
| REABILITAÇÃO |
tornar o prédio, com uma área bruta de cerca de 4200 m2, multifuncional, servindo de porta de entrada para o Bairro Alto e, ao mesmo tempo, assegurar a sua plena integração na atividade existente no Largo Trindade Coelho. Palácio Condes de Tomar Autor: Arq. José Pedro Neuparth, Arquiteto Lda Em 2012, através de protocolo celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, o Palácio Condes de Tomar, antiga Hemeroteca da CML, passou a integrar o património da SCML. Este palácio foi construído na segunda metade do século xix sobre estruturas preexistentes, como residência de António Bernardo da Costa Cabral, primeiro marquês de Tomar. Em 1970 foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, que ali instalou a Hemeroteca em 1973, desativada deste local muito recentemente. Com a realização desta obra, a Santa Casa pretende desenvolver um projeto de reabilitação do edifício
com uma área bruta de 2300 m2 que permita a sua ocupação pela biblioteca e revista Brotéria, intervenção a realizar em função das exigências regulamentares e de habitabilidade, mantendo na generalidade as suas caraterísticas construtivas. O programa funcional deste projeto de requalificação contempla uma zona de arquivo; biblioteca; um espaço polivalente para a realização de conferências, seminários, apresentação de livros; um espaço nobre, multifuncional e que sirva diferentes públicos, tirando o máximo partido da respetiva localização e integração. Prevê-se, também, dotar este espaço de uma zona residencial temporária para instalação da comunidade jesuíta. Convento de São Pedro de Alcântara Autor: Projeto interno SCML O Convento de São Pedro de Alcântara, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde o século xix, abriu portas ao público a partir do dia 3 de novembro de 2014. Dinamizar o va-
O PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PALÁCIO CONDES DE TOMAR VISA A OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO PELA BIBLIOTECA E REVISTA BROTÉRIA ALÇADO do edifício do Palácio Condes de Tomar, no Bairro Alto, em Lisboa
168
Untitled-20 168
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
lioso património histórico da instituição, tirando partido de uma localização privilegiada de Lisboa e também da proximidade com outros edifícios emblemáticos que são propriedade da SCML, designadamente a própria sede da instituição, no Complexo de São Roque, foram os objetivos que nortearam, numa primeira fase, o projeto de recuperação e conservação de algumas áreas do edificado que permitissem abrir o convento a todos. A edificação do Convento de São Pedro de Alcântara, que ocupa uma vasta área no Bairro Alto, compreendida entre o Jardim do Miradouro e a Rua da Rosa, deve-se ao primeiro marquês de Marialva e conde de Cantanhede que, em 1655, na batalha de Montes Claros, durante a guerra da Restauração, fez a promessa de fundar um convento dedicado àquele santo castelhano. Dom Veríssimo de Lencastre (1615-1692), cardeal de Lencastre e arcebispo de Braga, inquisidor-mor do Reino, enriqueceu o edifício com doações pecuniárias, tendo os seus herdeiros, os marqueses de Abrantes, construído e mantido uma extraordinária capela de mármore embutido, do arquiteto régio João Antunes. A construção do templo, anterior ao terremoto de 1755, sofreu alterações nos séculos xviii e xix, relevando uma arquitetura marcadamente religiosa, dos franciscanos capuchinhos arrábidos. No final de 1833, o Convento de São Pedro de Alcântara foi entregue à administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para instalar o chamado “Recolhimento das Órfãs” e, em 1943, passou a ser administrado em acordo de cooperação pelas Irmãs da Província Portuguesa da Congregação da Apresentação de Maria. Decorre do plano de reabilitação em curso, a adaptação do Convento de São Pedro de Alcântara para uma utilização mais abrangente, com zonas afetas a espaços de caráter institucional e áreas de caráter lúdico, o que permitirá alargar e dinamizar a oferta cultural do Bairro Alto. COMPLEXO DE SÃO ROQUE Na reabilitação do Complexo de São Roque, local do edifício-sede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, está em curso o programa de conservação,
manutenção e reorganização administrativa deste edifício, bem como o projeto para a construção de um auditório da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura.
FACHADA do Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa
AUDITÓRIO NO COMPLEXO DE SÃO ROQUE Autor: Eduardo Souto Moura, Arquiteto No complexo de São Roque, local onde estão instalados os serviços centrais e sede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, será construído um auditório da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura. O antigo edifício da lavandaria – concluído em meados de 1915 e que tinha como função centralizar a limpeza das roupas de todos os equipamentos da Misericórdia de Lisboa – será agora reconstruído para implantar o auditório, face ao valor patrimonial simbólico e relevante deste edifício com localização privilegiada, um espaço exterior envolvente, e por apresentar uma área adequada aos objetivos pretendidos. À semelhança do cuidado demonstrado na preservação do conjunto dos seus bens, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem-se associado à reabilitação do património artístico e cultural um pouco por todo o território nacional, ao encontro do seu lema “Cuidamos do nosso Património”. Na Santa Casa do século xxi, pretendemos assim que a reabilitação seja de pessoas para pessoas, conjugando o legado do passado com as necessidades do presente e a confiança para o futuro. 169
Untitled-20 169
28/08/15 12:05
| COORDENAÇÃO |
LIDAR COM
MÚLTIPLAS CARÊNCIAS Texto de Oliver Hilbery, traduzido por David Mira [DIRETOR DE PROJETOS DA COLIGAÇÃO MEAM – MAKING EVERY ADULT MATTER]
Em Inglaterra, a abordagem da coligação Making Every Adult Matter (MEAM) passa por apoiar as comunidades locais na melhoria da coordenação dos serviços para pessoas com múltiplas carências. Representando mais de 1600 instituições no terreno, a atuação da MEAM tem atingindo bons resultados nas diversas áreas territoriais onde tem intervindo. INTRODUÇÃO xistem sessenta mil pessoas em Inglaterra com múltiplas carências e privações. Enfrentam um conjunto de dificuldades, tais como situação de sem-abrigo, abuso de substâncias nocivas e problemas de saúde mental. Trata-se de indivíduos que entram e saem frequentemente do sistema de justiça criminal e as instituições, que deviam estar presentes para os ajudar, deixam-nos constantemente desapoiados. Enviados de serviço em serviço – sem que qualquer um aborde a totalidade das suas carências – acabam por viver vidas caóticas nas margens da nossa sociedade.
E
Não existem soluções rápidas, mas não fazer nada sai caro. Estes indivíduos recorrem às urgências em vez dos serviços previstos (um hospital em vez de um médico local, por exemplo), são detidos repetidamente e recebem intervenções esporádicas e descoordenadas que não os ajudam a andar em frente com as suas vidas. Claro que há também uma justificação moral para a ação. Em 2008, quatro instituições de assistência social no Reino Unido – Clinks, DrugScope, Homeless Link e Mind – formaram a coligação Making Every Adult Matter (MEAM) para ajudar a melhorar os resultados junto deste grupo de pessoas com múltiplas carências. Representando mais de 1600 insti-
170
Untitled-21 170
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
tuições no terreno, a MEAM apoia as comunidades locais na melhoria da coordenação dos serviços para pessoas com múltiplas carências e faz campanha por alterações à política nacional. O VALOR DE SERVIÇOS MAIS COORDENADOS A maioria das localidades tem um vasto leque de serviços oficiais e de voluntariado que deveriam desempenhar um papel ativo no auxílio às pessoas com múltiplas carências. Estes incluem serviços de alojamento, apoio aos sem-abrigo, assistência para situações de abuso de substâncias nocivas e problemas de saúde mental, mas também serviços de hospitais, polícia, prisões, assistência social, de combate a dificuldades de aprendizagem e
instituições de ensino, por exemplo. Muitas vezes, porém, estes serviços estão descoordenados, deixando as pessoas perderem-se pelo caminho. Em 2011-2012, a MEAM ajudou três áreas-piloto a coordenar melhor os serviços locais existentes para pessoas que enfrentam múltiplas carências. Cada área-piloto trabalhou com um pequeno número de casos, os 15 indivíduos mais excluídos na comunidade local. Empregaram um coordenador para interagir com os clientes, ganhar confiança com os mesmos e garantir o melhor rumo possível através dos serviços existentes, ajudando por exemplo os clientes a obter acesso a alojamento, tratamento para abuso de substâncias ou diagnósticos de saúde mental. Os coordenadores tiveram o
Contacto com serviços no terreno Alojamento
Lesões autoprovocadas intencionais
Controlo de impulsos
Lesões autoprovocadas involuntárias
Abuso de álcool e drogas
Risco para outros
Eficiência social
Risco vindo de outros Stress e ansiedade
Início
Ano 1
Ano 2
Figura 1. Exemplo de aumentos estatisticamente significativos no bem-estar dos clientes Fonte: Resultados cumulativos da avaliação da NDT1, área-piloto Cambridgeshire2
1. A avaliação New Directions Team (NDT) é realizada pelo coordenador da área-piloto e mede o comportamento do cliente nas dez áreas identificadas na figura. 2. Avaliação da FTI Consulting (2014) das áreas-piloto da MEAM – Atualização dos resultados: um relatório da FTI Consulting e da Compass Lexecon para a Making Every Adult Matter (MEAM), Londres.
171
Untitled-21 171
28/08/15 12:05
| COORDENAÇÃO |
£4,000 Figura 2. Exemplo da redução da despesa no uso de serviços mais amplos. Fonte: Área-piloto Cambridgeshire (as despesas representadas são despesas médias dos clientes por mês)3
A despesa no uso de serviços mais amplos desceu 26,4%
£3,500 £3,000 £2,500 £2,000 £1,500 £1,000 £500 £0 Geral
Início
Ano 1
Crime
Álcool e drogas
Saúde
Saúde mental
Alojamento
Ano 2
apoio de representantes das instituições oficiais e de voluntariado relevantes. Reuniram-se frequentemente como um conselho estratégico e operacional para ajudar a garantir que as instituições locais oferecessem respostas flexíveis aos clientes. Uma avaliação independente das áreas-piloto considerou que este novo método de trabalho conduziu a benefícios substanciais para os indivíduos e para as contas públicas. Num período de dois anos, a avaliação registou aumentos estatisticamente significativos no bem-estar de quase todos os clientes e uma redução até 26,4% no custo da utilização de serviços mais amplos. A maior parte da redução de custo dizia respeito à diminuição no uso de serviços de justiça criminal (ver figuras 1 e 2).
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO: A ABORDAGEM MEAM Nos últimos 18 meses, a MEAM tem apoiado muito mais áreas locais em Inglaterra na implementação de intervenções mais coordenadas, utilizando a abordagem MEAM como guia. A abordagem MEAM é um enquadramento não prescritivo com sete fases que as áreas locais podem utilizar para conceber e proporcionar serviços mais coordenados. Todos os sete elementos são importantes e devem ser tidos em conta, mas as áreas locais podem implementar cada um da forma mais adequada localmente. Os sete elementos da abordagem MEAM são: • Parceria e avaliação: este elemento ajuda as áreas locais a estabelecerem uma parceria com as
3. Ibidem.
172
Untitled-21 172
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
SUSTENTABILIDADE
Parceria e avaliação
Sustentabilidade e alterações nos sistemas
Determinação do sucesso
Melhoria dos serviços e preenchimento de lacunas
Figura 3. A abordagem MEAM Fonte: www. theMEAMapproach. org.uk.
INÍCIO
A ABORDAGEM MEAM
Respostas flexíveis dos serviços
Coerência na identificação dos clientes
Coordenação para os clientes e serviços
PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO – SERVIÇOS, MODELOS E RESPOSTAS FLEXÍVEIS
pessoas certas e a desenvolver um conhecimento partilhado das carências existentes. Envolver as pessoas certas ajuda as áreas locais a desenvolver uma intervenção pertencente à área como um todo e que conta com o apoio de todas as instituições oficiais e de voluntariado relevantes. • Coerência na identificação de clientes: este elemento ajuda as áreas locais a estabelecer um processo de encaminhamento coerente. Muitas vezes, é usado um painel multi-instituições para decidir o encaminhamento da intervenção coordenada. • Coordenação para os clientes e serviços: este elemento ajuda as áreas locais a conceberem a coordenação prática necessária para ligar os indivíduos aos serviços existentes. Há mais do que uma forma de oferecer esta coordenação, mas a pesquisa aponta frequentemente para a importância de um único coordenador coerente e fiável. As áreas locais são incentivadas a garantir que os líderes da
A COORDENAÇÃO NÃO FUNCIONA, A NÃO SER QUE AS INSTITUIÇÕES LOCAIS RELEVANTES TAMBÉM PROPORCIONEM RESPOSTAS FLEXÍVEIS PARA AS PESSOAS COM MÚLTIPLAS CARÊNCIAS” coordenação possuam a jurisdição administrativa para agir fora dos limites organizacionais existentes e “a incumbência de não terem incumbência”. Podem assim oferecer uma abordagem personalizada aos utilizadores dos serviços, perguntando “O que 173
Untitled-21 173
28/08/15 12:05
| COORDENAÇÃO |
quer experimentar primeiro?”, em vez de “O nosso serviço faz isto – quere-o?”. Podem também acompanhar os clientes nos seus percursos (mesmo se estes mudarem de alojamento ou forem presos) e oferecer apoio prático para ajudar as instituições a reter o contacto.
AS ÁREAS LOCAIS SÃO INCENTIVADAS A REFLETIR SOBRE O QUE ESTÁ A FALTAR NA OFERTA DE SERVIÇOS NA RESPETIVA LOCALIDADE E QUE NÃO PODE SER FORNECIDO ATRAVÉS DA FLEXIBILIDADE DOS SERVIÇOS EXISTENTES”
ma de medir o impacte da abordagem no bem-estar dos indivíduos e na economia do setor público. A MEAM proporciona uma série de ferramentas que ajudam as áreas locais a recolher e a analisar os dados relevantes. • Sustentabilidade e alterações nos sistemas: neste último elemento, as áreas locais refletem sobre a possibilidade de adotar as mudanças dentro do “sistema” mais amplo para que as melhorias sejam permanentes. A MEAM incentiva as áreas locais a tomar em consideração o sistema que envolve as pessoas com múltiplas carências, as partes deste sistema que precisam de ser alteradas e um plano para levar a cabo estas alterações. A abordagem MEAM tem um site onde podem ser encontradas mais informações sobre estes elementos – www.theMEAMapproach.org.uk. O site também oferece informações sobre as dez áreas locais em Inglaterra que a MEAM apoia no uso da sua abordagem, bem como os exemplos de estudos de caso das áreas com intervenções operacionais em curso.
• Respostas flexíveis dos serviços: a coordenação não funciona, a não ser que as instituições locais relevantes também proporcionem respostas flexíveis para as pessoas com múltiplas carências. Este elemento ajuda as áreas locais a explorar as alterações estratégicas, culturais e económicas que podem levar a cabo para atingir este objetivo. As áreas-piloto da MEAM reúnem um conselho composto por indivíduos seniores para incentivar a alteração estratégica, mas as áreas podem também ter em consideração alterações culturais nos funcionários no terreno ou alterações na forma como os serviços são financiados, para incentivar a flexibilidade. • Melhoria dos serviços e preenchimento de lacunas: neste ponto do processo, as áreas locais são incentivadas a refletir sobre o que está a faltar na oferta de serviços na respetiva localidade e que não pode ser fornecido através da flexibilidade dos serviços existentes. • Determinação do sucesso: neste elemento, as áreas locais são incentivadas a refletir sobre a for-
ALTERAÇÃO NA POLÍTICA Além do apoio às áreas locais, a MEAM colabora com responsáveis pela tomada de decisões a nível local e nacional para abordar os obstáculos políticos à existência de serviços mais coordenados. O nosso objetivo é desenvolver um ambiente de política que incentive a ação coordenada, para que este método de trabalho se torne a norma em todas as localidades. Já obtivemos algum sucesso – por exemplo, a “Estratégia de Justiça Social” nacional fez uma aposta nítida no incentivo aos serviços coordenados nas áreas locais. Neste momento, estamos a explorar como poderá o governo criar uma responsabilização mais forte, a nível local, pelas pessoas com múltiplas carências e de que forma os canais de financiamento nacional e as medidas de resultados podem ser usados para incentivar as instituições locais a colaborarem entre si. Quaisquer mudanças na política devem ser baseadas na opinião e na experiência das pessoas que enfrentam múltiplas carências. Atualmente, o nosso projeto “Voices from the Frontline” traz a voz
174
Untitled-21 174
28/08/15 12:05
| SOLIDARIEDADE |
QUAISQUER MUDANÇAS NA POLÍTICA DEVEM SER BASEADAS NA OPINIÃO E NA EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS QUE ENFRENTAM MÚLTIPLAS CARÊNCIAS”
das pessoas carenciadas para o centro do debate da política nacional, através de uma série de conversas, eventos e oportunidades de influência. No nosso site, há mais informações sobre este projeto e o nosso trabalho no âmbito da política mais ampla. Nota do autor: Para mais informações sobre a MEAM consulte: www.meam.org.uk e www.theMEAMapproach.org.uk. A MEAM é apoiada generosamente pela Fundação Calouste Gulbenkian (Delegação do Reino Unido); a Fundação Lankelly Chase, a Fundação Garfield Weston e a Fundação John Ellerman.
ESTUDO DE CASO – MICHAEL Michael tinha aquilo a que chama “uma vida normal” até aos 52 anos. Tudo começou a desmoronar-se há três anos, quando a mulher e a mãe de Michael faleceram, subitamente, no espaço de um mês. Michael começou a beber muito para lidar com a dor. Passado um mês foi despedido do emprego, porque foi trabalhar embriagado. Tornou-se solitário, deixou de pagar a renda e acabou por ser despejado do apartamento onde vivia. Mudou-se brevemente para casa da enteada mas, após uma discussão com o companheiro desta, achou que se devia ir embora. Acabou por passar a dormir ao relento e o seu autocuidado, confiança e saúde mental degradaram-se rapidamente. Durante vários meses recusou ofertas de ajuda de equipas de apoio aos sem-abrigo e foi repetidamente afastado pela polícia dos locais onde pernoitava. Foi internado frequentemente no hospital por equipas de emergência médica, devido ao álcool, mas saía sempre antes mesmo de lhe ser dada alta e regressava às ruas. Recusava-se a falar com toda a gente. Preocupado, o serviço de saúde passou o nome de Michael ao serviço de múltiplas carências. Este tinha sido incumbido de coordenar melhor as respostas dos serviços locais
existentes. Embora tivesse apenas dois funcionários, foi sempre bem apoiado estrategicamente e manteve uma boa presença nas reuniões multi-instituições mensais. Muitas instituições locais conheciam Michael, mas todas tinham razões para não quererem trabalhar com ele. Foi debatido um plano. O coordenador de múltiplas carências, Charles, começou a visitar Michael todos os dias, reduzindo de imediato as chamadas de emergência. Foram precisas duas semanas de visitas diárias até que Michael falasse e contasse a Charles os seus problemas. Charles conseguiu estabelecer um acordo segundo o qual Michael seria recebido num albergue desde que os serviços sociais oferecessem uma hora de apoio para o ajudar com o autocuidado todas as manhãs. Acompanhou Michael na avaliação da assistência social, ajudou-o a acomodar-se no albergue e apresentou-o à equipa dedicada aos problemas com o álcool. Três meses mais tarde, Michael reduziu o seu consumo de álcool e planeia mudar-se para um alojamento partilhado. Em 12 semanas, precisou apenas de uma ambulância e não foi visto pela polícia. Afirma que, se não fosse Charles, continuaria nas ruas.
175
Untitled-21 175
28/08/15 12:05
| DESPORTO OLÍMPICO |
Mais longe na formação,
MAIS FORTES PARA A VIDA Texto de Maria João Matos
[DIRETORA DA SUBDIREÇÃO GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E CANAIS, DIREÇÃO OPERACIONAL, DEPARTAMENTO DE JOGOS_SCML]
Através do desenvolvimento do projeto de bolsas de educação a atletas integrados no programa olímpico, paralímpico e surdolímpico, os Jogos Santa Casa contribuem para a conciliação da prática desportiva com a educação, através do desporto e fomento dos valores olímpicos.
N
o cumprimento da sua missão, os Jogos Santa Casa financiam vários projetos de estímulo à prática da atividade desportiva, no sentido do desenvolvimento de programas e estilos de vida saudáveis, da valorização do esforço e do mérito desportivo no apoio a talentos nacionais e, muito importante, do apoio ao desporto enquanto motor de coesão e integração social. Conscientes de algumas das preocupações que os jovens atletas atualmente enfrentam, os Jogos Santa Casa têm vindo também a trabalhar ativamente com diferentes federações desportivas e outras associações, de forma a contribuir para a melhoria de vida de quem tem por missão al-
cançar resultados de excelência. É nesse contexto que surgem as parcerias com o Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), em cujas políticas de responsabilidade social os Jogos Santa Casa se reveem: tanto na promoção dos valores e espírito olímpico do COP quanto na defesa da igualdade e inclusão na prática desportiva, defendidos pelo CPP. Enquanto parceiro oficial dos programas de responsabilidade social dos dois Comités, pelo segundo ano letivo consecutivo, os Jogos Santa Casa atribuíram bolsas de educação a atletas que integram os programas de preparação olímpica Rio 2016, preparação paralímpica Rio 2016 e preparação surdolímpica Ancara 2017.
176
Untitled-22 176
28/08/15 12:06
| SOLIDARIEDADE |
JOANA SANTOS, campeã nos Jogos Surdolímpicos de Taipé (2009) e vice-campeã nos Jogos Surdolímpicos de Sófia (2013)
177
Untitled-22 177
28/08/15 12:06
| DESPORTO OLÍMPICO |
NÉLSON LOPES, medalha de bronze nos 50 m Costas nos Campeonatos Europeus de Natação, do International Paralympic Committee 2014, e recordista europeu e mundial dos 100 m Costas em Piscina Curta
O caminho percorrido pelos atletas na sua preparação para os jogos olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos merece o maior respeito, consistindo num trabalho diário em que atletas, portadores de deficiências ou não, são exemplos de superação, garra e força de vontade. Porque a vida é difícil e o trabalho árduo para se conseguir vencer obstáculos nem sempre é suficiente, coube aos Jogos Santa Casa fazerem a diferença, ajudando a criar as condições necessárias para essa vitória – nos estudos, no desporto, na vida. Com todo o mérito que os atletas nos merecem, nunca Portugal teve tantas medalhas como desde que os Jogos Santa Casa são patrocinadores principais. Os Jogos Santa Casa são patrocinadores principais da Federação Portuguesa de Canoagem, da Federação Portuguesa de Rugby, da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, da Federação Portuguesa de Futebol, do Comité Olímpico de Portugal, do Comité Paralímpico de Portugal, da Federação Portuguesa de Motociclismo, da Equipa de Paradressage da Academia Equestre João Cardiga, entre muitos outros apoios concedidos a quem precisa.
JOÃO PAULO FERNANDES, atleta de boccia, medalha de ouro em equipas mistas BC1/ BC2 e medalha de ouro em competições individuais BC1 nos Jogos Paralímpicos de Atenas (2004); medalha de prata em equipas mistas BC1/ BC2 e medalha de ouro em competições individuais BC1 nos Jogos Paralímpicos de Pequim (2008)
Destinadas a 42 atletas matriculados no ano letivo de 2014/2015 em instituições de ensino superior, ao nível de licenciatura e mestrado, estas bolsas (com um valor pecuniário que pode ascen-
der a 3000 euros/ano) são um incentivo muito importante para a conciliação da carreira académica com a carreira desportiva. Contribuem, sem dúvida, para evitar quer o abandono precoce do desporto de alto rendimento quer o abandono também precoce dos estudos que, com regularidade preocupante, ocorre por dificuldades de compatibilização dos mesmos com os percursos escolar e desportivo dos atletas. Reconhecendo a importância deste contributo, os jovens atletas são unânimes em destacar o estímulo deste projeto no prosseguimento dos seus objetivos, não só académicos mas também desportivos. Joana Santos, atleta judoca que integra o programa de preparação surdolímpica Ancara 2017, afirmou
178
Untitled-22 178
28/08/15 12:06
| SOLIDARIEDADE |
mesmo que “a bolsa é uma ajuda preciosa e vai ajudar-me a conciliar os estudos com o judo, incentivando-me a obter bons resultados em ambos”. Também o atleta de natação Nélson Lopes, que integra o programa de preparação paralímpica Rio 2016, destacou que “a bolsa de educação dos Jogos Santa Casa vai permitir que não tenha de optar pela formação académica em detrimento da carreira desportiva, ou vice-versa, por falta de
disponibilidade financeira”. Nas palavras do atleta de boccia João Paulo Fernandes, que integra o programa de preparação paralímpica Rio 2016, “o esforço em conciliar a alta competição e o percurso académico não é nada fácil, pois é muito exigente. Mas nada melhor do que chegar ao fim com os objetivos alcançados: é o maior prémio que dou a mim mesmo, pois valeu a pena toda a luta, sacrifício e empenho”.
COMPATIBILIZAR OS ESTUDOS COM A CARREIRA DESPORTIVA O testemunho de João Neto, ex-atleta olímpico (judo) e presidente da Comissão de Atletas Olímpicos A necessidade de compatibilizar os meus estudos com a alta competição foi uma realidade na minha vida até 2009, ano em que terminei a licenciatura em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra. Conciliar as exigências curriculares com as exigências da minha carreira desportiva revelou-se um enorme desafio. Mas foi possível, com grande esforço e dedicação da minha parte. No ano letivo de 1999/2000, quando frequentava o 12.º ano, tomei a decisão de me candidatar ao ensino superior através do estatuto de atleta de alta competição. Consegui entrar na faculdade, no curso que desejava, com uma média boa – 15,4 valores –, aos 17 anos de idade. O meu percurso na universidade foi um pouco mais atribulado, dado que a época de exames coincidia, regra geral, com a altura do ano em que havia mais provas e estágios. Vi-me mesmo obrigado a despender mais três anos para concluir a licenciatura, a adiar ou a antecipar muitas frequências e exames e, inegavelmente, a abdicar de muitas coisas que normalmente estão associadas à juventude e à vida académica. Contudo, foram oito anos de concretização de objetivos desportivos, de conhecimento de outros países, de outras culturas
e de resultados satisfatórios ao nível académico. Competir duas vezes nos jogos olímpicos, a superação das minhas limitações e a exigência nisso envolvida foram, sem dúvida, experiências particularmente enriquecedoras e gratificantes, algo que não se pode aprender em nenhuma licenciatura e que não está ao alcance de muitos. Para atingir objetivos académicos satisfatórios, quando se procura ser um excelente atleta, implica ser-se muito organizado, aprender a planear o nosso dia-a-dia e conseguir abdicar daquilo que não é verdadeiramente importante para se ter êxito. É fundamental, sim, estabelecer prazos para atingir os objetivos e, não o conseguindo, há que avaliar e redefinir novas estratégias. Acredito que os atletas olímpicos são pessoas multifacetadas, com uma enorme capacidade de trabalho, de concentração e de persistência, o que nos torna capazes de atingir objetivos nas mais distintas áreas simultaneamente. No fundo, só temos de fazer aquilo que tão bem fazemos no desporto e que se pode resumir em três ideias muito simples: acreditarmos em nós próprios, estudarmos para atingir a excelência e, no momento da avaliação, mostrar que somos vencedores.
179
Untitled-22 179
28/08/15 12:06
LEGISLAÇÃO SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015 | N.OS 33 |
PORTARIA 192/2014, de 26-09 IN: Diário da República, série l, nº 186/2014, de 26-09, p. 5093-5097 Resumo: Regula a criação e manutenção da base de dados de registo do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio.
RESOLUÇÃO 73-A/2014, de 16-12 IN: Diário da República, série l, nº 242, 1.º supl./2014, de 16-12, p. 6130-(2) - 6130-(4) Resumo: Cria a iniciativa Portugal Inovação Social e a estrutura de missão responsável pela sua execução.
DECRETO-LEI 144/2014, de 30-09 IN: Diário da República, série l, nº 188/2014, de 30-09, p. 5108-5109 Notas: O presente decreto-lei atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para o período compreendido entre 1 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015.
LEI 81/2014, de 19-12 IN: Diário da República, série l, nº 245/2014, de 19-12, p. 6167-6175 Resumo: Estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio.
DECRETO-LEI 154/2014, de 20-10 IN: Diário da República, série l, nº 202/2014, de 20-10, p. 5318-5319 Resumo: Cria uma medida excecional de apoio ao emprego que se traduz na redução temporária da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora. RESOLUÇÃO 87/2014, de 29-10 IN: Diário da República, série l, nº 209/2014, de 29-10, p. 5578 Resumo: Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade.
PORTARIA 286-A/2014, de 31-12 IN: Diário da República, série l, nº 252, 2.º supl./2014, de 31-12, p. 6546-(418) - 6546-(422) Resumo: Estabelece as normas de atualização das pensões mínimas do regime geral da segurança social para o ano de 2015.
LEI 76/2014, de 11-11 IN: Diário da República, série l, nº 218/2014, de 11-11, p. 5723 Resumo: Autoriza o Governo a definir os termos e as condições para o acesso à profissão de ama e o exercício da respetiva atividade. PORTARIA 978-A/2014, de 19-11 IN: Diário da República, série ll, nº 224, 2.º supl./2014, de 19-11, p. 29282-(6) - 29282-(7) Resumo: Apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação e Ciência às Associações e Cooperativas de Ensino Especial sem fins lucrativos e às Instituições Particulares de Solidariedade Social, no âmbito dos contratos de cooperação referentes ao ano letivo 2014/2015. RESOLUÇÃO 68/2014, de 21-11 IN: Diário da República, série l, nº 226/2014, de 21-11, p. 5916-5917 Resumo: Designa os pontos de contacto nacionais e o mecanismo de coordenação nacional e estabelece o mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
RESOLUÇÃO 2/2015, de 08-01 IN: Diário da República, série l, nº 5/2015, de 08-01, p. 224 Resumo: Acesso dos jovens aos seus direitos como meio de promoção da autonomia e inclusão social. PORTARIA 8/2015, de 12-01 IN: Diário da República, série l, nº 7/2015, de 12-01, p. 374-376 Resumo: Define as unidades funcionais onde se desenvolvem as experiências-piloto para a implementação da atividade do enfermeiro de família no Serviço Nacional de Saúde. DECRETO-LEI 13/2015, de 26-01 IN: Diário da República, série l, nº 17/2015, de 26-01, p. 569-575 Resumo: Define os objetivos e os princípios da política de emprego e regula a conceção, a execução, o acompanhamento, a avaliação e o financiamento dos respetivos programas e medidas. RESOLUÇÃO 17/2015, de 19-02 IN: Diário da República, série l, nº 35/2015, de 19-02, p. 959 Resumo: Aplicação das recomendações do Conselho Nacional de Educação relativamente ao enquadramento legal da educação especial.
180
Untitled-23 180
28/08/15 12:06
LIVROS
| NOSSA SUGESTÃO |
Prodac: comunidade em construção Autores: Vários Edição: Centro Editorial SCML, 2015 ISBN: 978-989-8712-14-1 Preço: ¤17,90
As Instituições Particulares de Solidariedade Social – Governação e Terceiro Sector Autor: Vasco Almeida Edição: Almedina, 2011 ISBN: 978-972-40-4647-1 Preço: ¤19,00 Como se pode adaptar o Estado a uma colaboração eficaz com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), enquanto parceiros no desenho e oferta de respostas sociais? O autor obriga a refletir sobre as diferentes dimensões desta cooperação estratégica, desde as fragilidades internas das IPSS aos efeitos negativos que estas possam provocar, como a fragmentação dos serviços públicos.
Valores e Interesses – Desenvolvimento Económico e Política Comunitária de Cooperação Autor: Eduardo Paz Ferreira Edição: Almedina, 2004 ISBN: 9789724022000 Preço: ¤31,01 Os aspetos positivos e negativos da globalização servem de catalisador deste livro. Partindo dos problemas globais, o autor identifica a economia do desenvolvimento como sendo uma das dimensões cada vez mais importantes das relações internacionais, obrigando a pôr as estratégias de cooperação entre países na ordem do dia.
No início da década de 1970, viviam-se ainda tempos do Estado Novo, arrancou a construção de um projeto singular em Lisboa: um bairro erigido de raiz pelos moradores através da autoconstrução. É o bairro da Prodac, que perdura até hoje, rodeado pelos prédios modernos de betão da freguesia de Marvila. Com textos de vários autores, o livro traça o percurso desse território, da comunidade que o habita e da intervenção comunitária lá desenvolvida ao longo das últimas quatro décadas, marcadas pelo forte espírito participativo dos que aí vivem ou trabalham.
Supervisão e Colaboração: uma relação para o desenvolvimento Autor: Isabel Alarcão, Bernardo Canha Edição: Porto Editora, 2013 ISBN: 978-972-0-34575-2 Preço: ¤15,50 O conceito de supervisão evoca mecanismos hierárquicos, enquanto o de colaboração implica uma interação democrática entre pares. É possível conciliar ambos? Partindo da sua experiência na educação, os autores propõem uma reflexão sobre supervisão e colaboração em vários contextos, argumentando que é a conjugação de ambas que melhor promove o desenvolvimento profissional e das organizações.
Crescimento e Desenvolvimento Económico – Modelos e Agentes do Processo Autor: Francisco Diniz Edição: Edições Sílabo, 2010 (2.ª ed.) ISBN: 978-972-618-577-2 Preço: ¤23,12 A relação entre crescimento económico e desenvolvimento sustentado é o objeto de reflexão deste livro. O autor recupera modelos de pensadores clássicos e contemporâneos para analisar a evolução económica dos últimos duzentos anos, demonstrando que o crescimento nem sempre gera desenvolvimento e lembrando que se avistam novos desafios para as economias nacionais.
181
Untitled-24 181
28/08/15 12:07
AGENDA JULHO DE 2015 A SETEMBRO DE 2015
JULHO PAES - Programa de Apoio a Empresas Sociais Sessão de oficialização e divulgação dos projetos selecionados para a edição PAES 2015/2016, com a assinatura dos contratos de apoio. O PAES é um programa criado no âmbito do Banco de Inovação Social (BIS), da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que pretende captar as melhores ideias, os melhores projetos, os promotores mais motivados, dando-lhes apoio na estruturação de negócios capazes de dar origem a uma nova empresa social com a necessária sustentabilidade. bancodeinovacaosocial.pt/empreendedorismo.php facebook.com/bancodeinovacaosocial.pt
9
Integrado no V Ciclo de Seminários “Ciências Sociais e Saúde” Hora: 15h00 Local: CES - Sala 2 Universidade de Coimbra ces.uc.pt/eventos/index. php?id_lingua=1
Seminário “Desigualdades em Saúde” Paula Santana (Geógrafa/ICEGOT)
AGOSTO
2
14.ª Conferência Internacional de Mobilidade e Transportes para Idosos e Pessoas com Mobilidade Reduzida Data: até 31.07 Local: IST, Lisboa transed2015.com/
SETEMBRO
3 Visita Igreja de São Roque: Heráldica e Emblemática Ciclo 1 Mês/ 1 Tema Data: 2 e 5.08 Hora: 13h15 Local: Lisboa Gratuito mediante inscrição prévia. scml.pt/pt-PT/ eventos/1_mes__1_ tema_27/
28
V Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad Data: até 4.09 Local: Universidad Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Espanha http://salud-sociedad. com/congreso
8
17th European Conference on Developmental Psychology Data: até 12.09 Local: Universidade do Minho, Braga http://ecdpbraga2015. com/
182
Untitled-25 182
28/08/15 12:08
A Santa Casa da Misericรณrdia de Lisboa integra a Comissรฃo Organizadora da Lisboa Capital Europeia do Voluntariado 2015. Juntos, vamos construir uma cidade mais inclusiva, solidรกria e voluntรกria. Junte-se a nรณs.
Media partners
Quando aposta em Portugal, ganhamos todos. A Missão dos Jogos Santa Casa é canalizar para a oferta legal do Estado a procura de jogo a dinheiro, por forma a garantir práticas de jogo responsável que protejam o património das famílias e a ordem pública, devolvendo à sociedade o que esta gasta em jogo, quer através dos prémios ganhos, quer através da distribuição dos resultados a um vasto conjunto de beneficiários que atuam nas áreas da ação social, saúde, desporto e cultura. Em 2014, as receitas dos Jogos Santa Casa permitiram devolver à sociedade portuguesa um valor global de mais de 1818 milhões de euros. Estas são as Boas Causas.
uma boa aposta