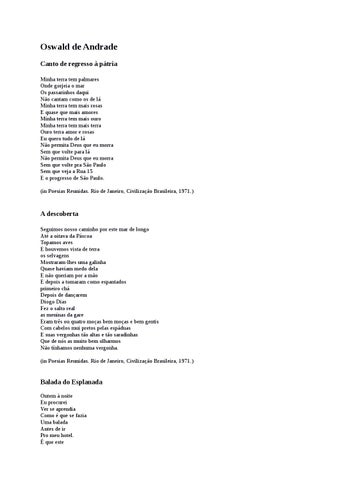Oswald de Andrade Canto de regresso à pátria Minha terra tem palmares Onde gorjeia o mar Os passarinhos daqui Não cantam como os de lá Minha terra tem mais rosas E quase que mais amores Minha terra tem mais ouro Minha terra tem mais terra Ouro terra amor e rosas Eu quero tudo de lá Não permita Deus que eu morra Sem que volte para lá Não permita Deus que eu morra Sem que volte pra São Paulo Sem que veja a Rua 15 E o progresso de São Paulo. (in Poesias Reunidas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971.)
A descoberta Seguimos nosso caminho por este mar de longo Até a oitava da Páscoa Topamos aves E houvemos vista de terra os selvagens Mostraram-lhes uma galinha Quase haviam medo dela E não queriam por a mão E depois a tomaram como espantados primeiro chá Depois de dançarem Diogo Dias Fez o salto real as meninas da gare Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis Com cabelos mui pretos pelas espáduas E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas Que de nós as muito bem olharmos Não tínhamos nenhuma vergonha. (in Poesias Reunidas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971.)
Balada do Esplanada Ontem à noite Eu procurei Ver se aprendia Como é que se fazia Uma balada Antes de ir Pro meu hotel. É que este
Coração Já se cansou De viver só E quer então Morar contigo No Esplanada. Eu queria Poder Encher Este papel De versos lindos É tão distinto Ser menestrel No futuro As gerações Que passariam Diriam É o hotel É o hotel Do menestrel Pra me inspirar Abro a janela Como um jornal Vou fazer A balada Do Esplanada E ficar sendo O menestrel De meu hotel Mas não há, poesia Num hotel Mesmo sendo 'Splanada Ou Grand-Hotel Há poesia Na dor Na flor No beija-flor No elevador
Oferta Quem sabe Se algum dia Traria O elevador Até aqui O teu amor
Pronominais Dê-me um cigarro Diz a gramática Do professor e do aluno E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco Da Nação Brasileira Dizem todos os dias Deixa disso camarada Me dá um cigarro
Vício na fala Para dizerem milho dizem mio Para melhor dizem mió Para pior pió Para telha dizem teia Para telhado dizem teiado E vão fazendo telhados
O gramático Os negros discutiam Que o cavalo sipantou Mas o que mais sabia Disse que era Sipantarrou.
Erro de português Quando o português chegou Debaixo de uma bruta chuva Vestiu o índio Que pena! Fosse uma manhã de sol O índio tinha despido O português.
Mário de Andrade Ode ao burguês Eu insulto o burguês! O burguês-níquel o burguês-burguês! A digestão bem-feita de São Paulo! O homem-curva! O homem-nádegas! O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! Eu insulto as aristocracias cautelosas! Os barões lampiões! Os condes Joões! Os duques zurros! Que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangue de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os "Printemps" com as unhas! Eu insulto o burguês-funesto! O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! Fora os que algarismam os amanhãs! Olha a vida dos nossos setembros! Fará Sol? Choverá? Arlequinal! Mas à chuva dos rosais o êxtase fará sempre Sol! Morte à gordura! Morte às adiposidades cerebrais! Morte ao burguês-mensal! Ao burguês-cinema! Ao burguês-tiburi! Padaria Suíssa! Morte viva ao Adriano! "— Ai, filha, que te darei pelos teus anos? — Um colar... — Conto e quinhentos!!! Más nós morremos de fome!" Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma! Oh! purée de batatas morais! Oh! cabelos nas ventas! Oh! carecas! Ódio aos temperamentos regulares! Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia! Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais! De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia! Dois a dois! Primeira posição! Marcha! Todos para a Central do meu rancor inebriante! Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio! Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus! Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico! Ódio fundamento, sem perdão! Fora! Fu! Fora o bom burguês!...
Lundu do escritor difícil Eu sou um escritor difícil Que a muita gente enquizila,
Porém essa culpa é fácil De se acabar duma vez: É só tirar a cortina Que entra luz nesta escurez. Cortina de brim caipora, Com teia caranguejeira E enfeite ruim de caipira, Fale fala brasileira Que você enxerga bonito Tanta luz nesta capoeira Tal-e-qual numa gupiara. Misturo tudo num saco, Mas gaúcho maranhense Que pára no Mato Grosso, Bate este angu de caroço Ver sopa de caruru; A vida é mesmo um buraco, Bobo é quem não é tatu! Eu sou um escritor difícil, Porém culpa de quem é!... Todo difícil é fácil, Abasta a gente saber. Bajé, pixé, chué, ôh "xavié" De tão fácil virou fóssil, O difícil é aprender! Virtude de urubutinga De enxergar tudo de longe! Não carece vestir tanga Pra penetrar meu caçanje! Você sabe o francês "singe" Mas não sabe o que é guariba? — Pois é macaco, seu mano, Que só sabe o que é da estranja.
Descobrimento Abancado à escrivaninha em São Paulo Na minha casa da rua Lopes Chaves De supetão senti um friúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido Com o livro palerma olhando pra mim. Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! muito longe de mim Na escuridão ativa da noite que caiu Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, Faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu.
Moça linda bem tratada Moça linda bem tratada,
Três séculos de família, Burra como uma porta: Um amor. Grã-fino do despudor, Esporte, ignorância e sexo, Burro como uma porta: Um coió. Mulher gordaça, filó, De ouro por todos os poros Burra como uma porta: Paciência... Plutocrata sem consciência, Nada porta, terremoto Que a porta de pobre arromba: Uma bomba.
A meditação sobre o Tietê Água do meu Tietê, Onde me queres levar? - Rio que entras pela terra E que me afastas do mar... É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável Da Ponte das Bandeiras o rio Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa. É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras, Soturnas sombras, enchem de noite de tão vasta O peito do rio, que é como si a noite fosse água, Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões As altas torres do meu coração exausto. De repente O ólio das águas recolhe em cheio luzes trêmulas, É um susto. E num momento o rio Esplende em luzes inumeráveis, lares, palácios e ruas, Ruas, ruas, por onde os dinossauros caxingam Agora, arranha-céus valentes donde saltam Os bichos blau e os punidores gatos verdes, Em cânticos, em prazeres, em trabalhos e fábricas, Luzes e glória. É a cidade... É a emaranhada forma Humana corrupta da vida que muge e se aplaude. E se aclama e se falsifica e se esconde. E deslumbra. Mas é um momento só. Logo o rio escurece de novo, Está negro. As águas oliosas e pesadas se aplacam Num gemido. Flor. Tristeza que timbra um caminho de morte. É noite. E tudo é noite. E o meu coração devastado É um rumor de germes insalubres pela noite insone e humana. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas E te afastas do mar e te adentras na terra dos homens, Onde me queres levar?... Por que me proíbes assim praias e mar, por que Me impedes a fama das tempestades do Atlântico E os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Rio que fazes terra, húmus da terra, bicho da terra, Me induzindo com a tua insistência turrona paulista Para as tempestades humanas da vida, rio, meu rio!... Já nada me amarga mais a recusa da vitória
Do indivíduo, e de me sentir feliz em mim. Eu mesmo desisti dessa felicidade deslumbrante, E fui por tuas águas levado, A me reconciliar com a dor humana pertinaz, E a me purificar no barro dos sofrimentos dos homens. Eu que decido. E eu mesmo me reconstituí árduo na dor Por minhas mãos, por minhas desvividas mãos, por Estas minhas próprias mãos que me traem, Me desgastaram e me dispersaram por todos os descaminhos, Fazendo de mim uma trama onde a aranha insaciada Se perdeu em cisco e polem, cadáveres e verdades e ilusões. Mas porém, rio, meu rio, de cujas águas eu nasci, Eu nem tenho direito mais de ser melancólico e frágil, Nem de me estrelar nas volúpias inúteis da lágrima! Eu me reverto às tuas águas espessas de infâmias, Oliosas, eu, voluntariamente, sofregamente, sujado De infâmias, egoísmos e traições. E as minhas vozes, Perdidas do seu tenor, rosnam pesadas e oliosas, Varando terra adentro no espanto dos mil futuros, À espera angustiada do ponto. Não do meu ponto final! Eu desisiti! Mas do ponto entre as águas e a noite, Daquele ponto leal à terrestre pergunta do homem, De que o homem há de nascer. Eu vejo; não é por mim, o meu verso tomando As cordas oscilantes da serpente, rio. Toda a graça, todo o prazer da vida se acabou. Nas tuas águas eu contemplo o Boi Paciência Se afogando, que o peito das águas tudo soverteu. Contágios, tradições, brancuras e notícias, Mudo, esquivo, dentro da noite, o peito das águas, fechado, mudo, Mudo e vivo, no despeito estrídulo que me fustiga e devora. Destino, predestinações... meu destino. Estas águas Do meu Tietê são abjetas e barrentas, Dão febre, dão morte decerto, e dão garças e antíteses. Nem as ondas das suas praias cantam, e no fundo Das manhãs elas dão gargalhadas frenéticas, Silvos de tocaias e lamurientos jacarés. Isto não são águas que se beba, conhecido, isto são Águas do vício da terra. Os jabirus e os socós Gargalham depois morrem. E as antas e os bandeirantes e os ingás, Depois morrem. Sobra não. Nem siquer o Boi Paciência Se muda não. Vai tudo ficar na mesma, mas vai!... e os corpos Podres envenenam estas águas completas no bem e no mal. Isto não são águas que se beba, conhecido! Estas águas São malditas e dão morte, eu descobri! e é por isso Que elas se afastam dos oceanos e induzem à terra dos homens, Paspalhonas. Isto não são água que se beba, eu descobri! E o meu peito das águas se esborrifa, ventarrão vem, se encapela Engruvinhado de dor que não se suporta mais. Me sinto o pai Tietê! ôh força dos meus sovacos! Cio de amor que me impede, que destrói e fecunda! Nordeste de impaciente amor sem metáforas, Que se horroriza e enraivece de sentir-se Demagogicamente tão sozinho! Ô força! Incêndio de amor estrondante, enchente magnânima que me inunda, Me alarma e me destroça, inerme por sentir-me Demagogicamente tão só!
A culpa é tua, Pai Tietê? A culpa é tua Si as tuas águas estão podres de fel E majestade falsa? A culpa é tua Onde estão os amigos? Onde estão os inimigos? Onde estão os pardais? e os teus estudiosos e sábios, e Os iletrados? Onde o teu povo? e as mulheres! dona Hircenuhdis Quiroga! E os Prados e os crespos e os pratos e os barbas e os gatos e os línguas Do Instituto Histórico e Geográfico, e os museus e a Cúria, e os senhores chantres reverendíssimos, Celso niil estate varíolas gide memoriam, Calípedes flogísticos e a Confraria Brasiliense e Clima E os jornalistas e os trustkistas e a Light e as Novas ruas abertas e a falta de habitações e Os mercados?... E a tiradeira divina de Cristo!... Tu és Demagogia. A própria vida abstrata tem vergonha De ti em tua ambição fumarenta. És demagogia em teu coração insubmisso. És demagogia em teu desequilíbrio anticéptico E antiuniversitário. És demagogia. Pura demagogia. Demagogia pura. Mesmo alimpada de metáforas. Mesmo irrespirável de furor na fala reles: Demagogia. Tu és enquanto tudo é eternidade e malvasia: Demagogia. Tu és em meio à (crase) gente pia: Demagogia. És tu jocoso enquanto o ato gratuito se esvazia: Demagogia. És demagogia, ninguém chegue perto! Nem Alberto, nem Adalberto nem Dagoberto Esperto Ciumento Peripatético e Ceci E Tancredo e Afrodísio e também Armida E o próprio Pedro e também Alcibíades, Ninguém te chegue perto, porque tenhamos o pudor, O pudor do pudor, sejamos verticais e sutis, bem Sutis!... E as tuas mãos se emaranham lerdas, E o Pai Tietê se vai num suspiro educado e sereno, Porque és demagogia e tudo é demagogia. Olha os peixes, demagogo incivil! Repete os carcomidos peixes! São eles que empurram as águas e as fazem servir de alimento Às areias gordas da margem. Olha o peixe dourado sonoro, Esse é um presidente, mantém faixa de crachá no peito, Acirculado de tubarões que escondendo na fuça rotunda O perrepismo dos dentes, se revezam na rota solene Languidamente presidenciais. Ei-vem o tubarão-martelo E o lambari-spitfire. Ei-vem o boto-ministro. Ei-vem o peixe-boi com as mil mamicas imprudentes, Perturbado pelos golfinhos saltitantes e as tabaranas Em zás-trás dos guapos Pêdêcê e Guaporés. Eis o peixe-baleia entre os peixes muçuns lineares, E os bagres do lodo oliva e bilhões de peixins japoneses; Mas és asnático o peixe-baleia e vai logo encalhar na margem, Pois quis engolir a própria margem, confundido pela facheada, Peixes aos mil e mil, como se diz, brincabrincando De dirigir a corrente com ares de salva-vidas. E lá vem por debaixo e por de-banda os interrogativos peixes Internacionais, uns rubicundos sustentados de mosca, E os espadartes a trote chique, esses são espadartes! e as duas
Semanas Santas se insultam e odeiam, na lufa-lufa de ganhar No bicho o corpo do crucificado. Mas as águas, As águas choram baixas num murmúrio lívido, e se difundem Tecidas de peixe e abandono, na mais incompetente solidão. Vamos, Demagogia! eia! sus! aceita o ventre e investe! Berra de amor humano impenitente, Cega, sem lágrimas, ignara, colérica, investe! Um dia hás de ter razão contra a ciência e a realidade, E contra os fariseus e as lontras luzidias. E contra os guarás e os elogiados. E contra todos os peixes. E também os mariscos, as ostras e os trairões fartos de equilíbrio e Pundhonor. Pum d'honor. Qué-de as Juvenilidades Auriverdes! Eu tenho medo... Meu coração está pequeno, é tanta Essa demagogia, é tamanha, Que eu tenho medo de abraçar os inimigos, Em busca apenas dum sabor, Em busca dum olhar, Um sabor, um olhar, uma certeza... É noite... Rio! meu rio! meu Tietê! É noite muito!... As formas... Eu busco em vão as formas Que me ancorem num porto seguro na terra dos homens. É noite e tudo é noite. O rio tristemente Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa. Água noturna, noite líquida... Augúrios mornos afogam As altas torres do meu exausto coração. Me sinto esvair no apagado murmulho das águas Meu pensamento quer pensar, flor, meu peito Quereria sofrer, talvez (sem metáforas) uma dor irritada... Mas tudo se desfaz num choro de agonia Plácida. Não tem formas nessa noite, e o rio Recolhe mais esta luz, vibra, reflete, se aclara, refulge, E me larga desarmado nos transes da enorme cidade. Si todos esses dinossauros imponentes de luxo e diamante, Vorazes de genealogia e de arcanos, Quisessem reconquistar o passado... Eu me vejo sozinho, arrastando sem músculo A cauda do pavão e mil olhos de séculos, Sobretudo os vinte séculos de anticristianismo Da por todos chamada Civilização Cristã... Olhos que me intrigam, olhos que me denunciam, Da cauda do pavão, tão pesada e ilusória. Não posso continuar mais, não tenho, porque os homens Não querem me ajudar no meu caminho. Então a cauda se abriria orgulhosa e reflorescente De luzes inimagináveis e certezas... Eu não seria tão-somente o peso deste meu desconsolo, A lepra do meu castigo queimando nesta epiderme Que encurta, me encerra e me inutiliza na noite, Me revertendo minúsculo à advertência do meu rio. Escuto o rio. Assunto estes balouços em que o rio Murmura num banzeiro. E contemplo Como apenas se movimenta escravizada a torrente, E rola a multidão. Cada onda que abrolha E se mistura no rolar fatigado é uma dor. E o surto Mirim dum crime impune. Vêm de trás o estirão. É tão soluçante e tão longo, E lá na curva do rio vêm outros estirões e mais outros,
E lá na frente são outros, todos soluçantes e presos Por curvas que serão sempre apenas as curvas do rio. Há de todos os assombros, de todas as purezas e martírios Nesse rolo torvo das águas. Meu Deus! meu Rio! como é possível a torpeza da enchente dos homens! Quem pode compreender o escravo macho E multimilenar que escorre e sofre, e mandado escorre Entre injustiça e impiedade, estreitado Nas margens e nas areias das praias sequiosas? Elas bebem e bebem. Não se fartam, deixando com desespero Que o rosto do galé aquoso ultrapasse esse dia, Pra ser represado e bebido pelas outras areias Das praias adiante, que também dominam, aprisionam e mandam A trágica sina do rolo das águas, e dirigem O leito impassível da injustiça e da impiedade. Ondas, a multidão, o rebanho, o rio, meu rio, um rio Que sobe! Fervilha e sobe! E se adentra fatalizado, e em vez De ir se alastrar arejado nas liberdades oceânicas, Em vez se adentra pela terra escura e ávida dos homens, Dando sangue e vida a beber. E a massa líquida Da multidão onde tudo se esmigalha e se iguala, Rola pesada e oliosa, e rola num rumor surdo, E rola mansa, amansada imensa eterna, mas No eterno imenso rígido canal da estulta dor. Porque os homens não me escutam! Por que os governadores Não me escutam? Por que não me escutam Os plutocratas e todos os que são chefes e são fezes? Todos os donos da vida? Eu lhes daria o impossível e lhes daria o segredo, Eu lhes dava tudo aquilo que fica pra cá do grito Metálico dos números, e tudo O que está além da insinuação cruenta da posse. E si acaso eles protestassem, que não! que não desejam A borboleta translúcida da humana vida, porque preferem O retrato a ólio das inaugurações espontâneas, Com béstias de operário e do oficial, imediatamente inferior. E palminhas, e mais os sorrisos das máscaras e a profunda comoção, Pois não! Melhor que isso eu lhes dava uma felicidade deslumbrante De que eu consegui me despojar porque tudo sacrifiquei. Sejamos generosíssimos. E enquanto os chefes e as fezes De mamadeira ficassem na creche de laca e lacinhos, Ingênuos brincando de felicidade deslumbrante: Nós nos iríamos de camisa aberta ao peito, Descendo verdadeiros ao léu da corrente do rio, Entrando na terra dos homens ao coro das quatro estações. Pois que mais uma vez eu me aniquilo sem reserva, E me estilhaço nas fagulhas eternamente esquecidas, E me salvo no eternamente esquecido fogo de amor... Eu estalo de amor e sou só amor arrebatado Ao fogo irrefletido do amor. ...eu já amei sozinho comigo; eu já cultivei também O amor do amor, Maria! E a carne plena da amante, e o susto vário Da amiga, e a inconfidência do amigo... Eu já amei Contigo, Irmão Pequeno, no exílio da preguiça elevada, escolhido Pelas águas do túrbido rio do Amazonas, meu outro sinal. E também, ôh também! na mais impávida glória Descobridora da minha inconstância e aventura, Desque me fiz poeta e fui trezentos, eu amei
Todos os homens, odiei a guerra, salvei a paz! E eu não sabia! eu bailo de ignorâncias inventivas, E a minha sabedoria vem das fontes que eu não sei! Quem move meu braço? quem beija por minha boca? Quem sofre e se gasta pelo meu renascido coração? Quem? sinão o incêndio nascituro do amor?... Eu me sinto grimpado no arco da Ponte das Bandeiras, Bardo mestiço, e o meu verso vence a corda Da caninana sagrada, e afina com os ventos dos ares, e enrouquece Úmido nas espumas da água do meu rio, E se espatifa nas dedilhações brutas do incorpóreo Amor. Por que os donos da vida não me escutam? Eu só sei que eu não sei por mim! sabem por mim as fontes Da água, e eu bailo de ignorâncias inventivas. Meu baile é solto como a dor que range, meu Baile é tão vário que possui mil sambas insonhados! Eu converteria o humano crime num baile mais denso Que estas ondas negras de água pesada e oliosa, Porque os meus gestos e os meus ritmos nascem Do incêndio puro do amor... Repetição. Primeira voz sabida, o Verbo. Primeiro troco. Primeiro dinheiro vendido. Repetição logo ignorada. Como é possível que o amor se mostre impotente assim Ante o ouro pelo qual o sacrificam os homens, Trocando a primavera que brinca na face das terras Pelo outro tesouro que dorme no fundo baboso do rio! É noite! é noite!... E tudo é noite! E os meus olhos são noite! Eu não enxergo siquer as barcaças na noite. Só a enorme cidade. E a cidade me chama e pulveriza, E me disfarça numa queixa flébil e comedida, Onde irei encontrar a malícia do Boi Paciência Redivivo. Flor. Meu suspiro ferido se agarra, Não quer sair, enche o peito de ardência ardilosa, Abre o olhar, e o meu olhar procura, flor, um tilintar Nos ares, nas luzes longe, no peito das águas, No reflexo baixo das nuvens. São formas... Formas que fogem, formas Indivisas, se atropelando, um tilintar de formas fugidias Que mal se abrem, flor, se fecham, flor, flor, informes inacessíveis, Na noite. E tudo é noite. Rio, o que eu posso fazer!... Rio, meu rio... mas porém há-de haver com certeza Outra vida melhor do outro lado de lá Da serra! E hei-de guardar silêncio Deste amor mais perfeito do que os homens?... Estou pequeno, inútil, bicho da terra, derrotado. No entanto eu sou maior... Eu sinto uma grandeza infatigável! Eu sou maior que os vermes e todos os animais. E todos os vegetais. E os vulcões vivos e os oceanos, Maior... Maior que a multidão do rio acorrentado, Maior que a estrela, maior que os adjetivos, Sou homem! vencedor das mortes, bem nascido além dos dias, Transfigurado além das profecias! Eu recuso a paciência, o boi morreu, eu recuso a esperança. Eu me acho tão cansado em meu furor. As águas apenas murmuram hostis, água vil mas turrona paulista Que sobe e se espraia, levando as auroras represadas Para o peito dos sofrimentos dos homens. ... e tudo é noite. Sob o arco admirável Da Ponte das Bandeiras, morta, dissoluta, fraca, Uma lágrima apenas, uma lágrima,
Eu sigo alga escusa nas águas do meu Tietê. 30/11/1944 a 12/2/1945
Jorge de Lima Invenções de Orfeu Canto III Poemas relativos I Caída a noite o mar se esvai, aquele monte desaba e cai silentemente. Bronzes diluídos já não são vozes, seres na estrada nem são fantasmas, aves nos ramos inexistentes; tranças noturnas mais que impalpáveis, gatos nem gatos, nem os pés no ar, nem os silêncios. O sono está. E um homem dorme. II Queres ler o que tão só se entrelê e o resto em ti está? Flor no ar sem umbela nem tua lapela; flor que sem nós há. Subitamente olhas: nem lês nem desfolhas; folha, flor, tiveste-as. E nem as tocaste: folha e flor. Tu - haste, elas reais, mas réstias. III Qualquer voz alou-se muito desejada. Branco fosse o espaço e ela ardente cor. Quis o espaço a voz a voz veio e ampliou-o. Mas se não houvesse
propriamente voz... Vamos nós supô-los: dois sem seus sentidos. Desejemos mesmo dois incompreensíveis. Bom nos ecoarmos na voz recebida. E o espaço esvaziado povoá-lo de vez. Amá-los tão sem amada presença, só com o coração sem correspondência, só com a vocação do verso feliz. IV Numas noites chegamos à janela, e as mandíbulas do ar tanto nos roem, que os leitos rotos logo deliqüescem com os nossos corpos complacentemente. Certos dias olhamos o sol claro; e a boca hiante das cores nos devora carnes e sangues, poeiras de costelas, que ficamos inúteis, sem matéria. Essas bocas nos sugam noite e dia, vigiando dia e noite nossas vidas um minuto no espaço, menos que ai de chumbo soluçado nos silêncios, ou cal de fome longa, revelada, na noite igual ao dia, de tão gêmeos. V Agora o sem senso sorriso nos ares, minha alma perdida, os vales lá embaixo de minhas lonjuras de não existido, parado nos antes, nem sei de pecados, nem sei de mim mesmo, eu mesmo não sou nem nada me vê; ausentes palavras não soam no vácuo dos antes das coisas, das coisas sem nexo, nem fluidos. Só o Verbo chorando por mim.
VI Agora, escutai-me que eu falo de mim; ouvi que sou eu, sou eu, eu em mim; tocai esses cravos já feitos pra mim, suores de sangue, pressuados sem poros verônica herdada. sem face do ser. Embora; escutai-me, que eu falo com a voz inata que diz que a voz não é essa que fala por mim, talvez minha fala saída de ti. VII Alegria achareis neste poema como poema ilícito, como um corpo casual ou vão, como a memória dura e acídula, como um homem se conhece respirando, ou como quando se entristece sem causa ou se doente, ou se lavando sempre ou comparando-se às dimensões das coisas relativas; ou como sente os ombros de seu ser, transmitidos e opacos, e os avós responsabilizando-se presentes. São alegrias rápidas. Lugares, reencontrados países, becos, passos sob as chuvas que não vos molharão.
VIII Se falta alguém nesses versos pele vento interminável, pelas arenas de estátuas, sucedam-lhe os cegos olhos sacudidos pelos medos, mãos de chuvas lhe inteiricem o corpo com algas remissas e com matérias tranqüilas tão soturna como os poços, exasperados invernos, ombros de escova comida, as asas secas caídas, ante seus netos calados; e incorporem-se a esse alvitre esse sabor de cortiça, essas esponjas morridas,
essas marés estanhadas, essas escunas de espáduas estritamente fechadas como casas de abandono, restringem-se os conciliábulos, certos sigilos de pez, certas coisas enlutadas, refúgios, dramas ocultos, pois as rosas são de trapos e os fios menos que teias, menos que finos agora, e as camisas sem os pêlos enterrados nas ilhargas, vestem enganos e punhos e crimes em vez de adegas, mas tudo em vão, mesmo as plumas, mesmo os ausentes e as vozes aderidas a fragmentos aí moram degredadas, listrando as grades, de faces que não conhecem espelhos IX Numa hora perdida cantos doeram. Os desejos E flores despenteadas, flores largas e a barbárie e inconfidentes quase abominadas dos corpos. por oculta paixão, se intumesceram. E a relatividade do espírito Lírios eram pilares de cristal sob o cerco subindo para as aves; então dardos da matéria. desceram sobre os mais amados colos cantando amor com seus consentimentos. Canção melhor. Mais puros olhos. Eu sei de cor os rebanhos, e olho o mundo. Tudo contém pequenas doces máscaras. Mas da selva selvagem desce o pranto dos que mastigam suas próprias fomes, sem saliva de pão, e o gosto ausente. Ninguém consegue assim amar os lírios. E esse amor é amaríssimo e adstringente com a memória das dores engolidas. X Vós não viveis sozinhos, os outros vos invadem, felizes convivências, agregações incômodas, enfim ambientalismos, e tudo subsistências e mais comunidades; e tantas ventanias acotovelamentos, desgastes de antemão,
acréscimos depois, depois substituições, a massa vos tragando, as coisas vos bisando; os hábitos, os vícios, as moças embutidas mudando vossas cartas; sereis administrados no sono e nos pecados, vós mapas e diagramas com várias delinqüências, e insanidades várias, dosando o vosso espaço, pesando o vosso pão de tempos racionados; e não tereis vivido e não tereis amado, porém sereis morrido. XI Éreis vós Tiago, Diogo, Jaques, Jaime? Clodoveu ou Clodovigo? Éreis vós por acaso eles? Éreis vós aqueles nomes, estes, e os demais já mortos, os mortos tão renovados nós mesmos sempre chamados Lútero, Lotário, otário, sim otário tão singelo, tão puro de todo o mal, relativo, universal. Éreis vós Tiago, Diogo, Jaques, Jaime? Dizei-me se acaso vós éreis eles ou voz sou de algum avo tão otário, tão eu mesmo como voz, como poema de outros vários. XII O simples ar de uma só corda em curta raia, mão de menino, punhado escasso, ar perfumado, sem o alvoroço dos vendavais; anjo acolhido em róseo céu abrigo instante, pranto lavado, chorar em ti de arrependido, subir teus vales,
amar teu pólen, nunca escapar-me de tuas pétalas cair com elas. XIII Uma janela aberta e um simples rosto hirto, e que provavelmente nela se debruçou; e nesse gesto puro do rosto na janela estava todo o poema que ninguém escutou; só a janela aberta e o espaço dentro dela que o tempo atravessou. XIV O conto era um dia, um dia futuro, e dentro do dia incluído o conforme, e dentro o que foi porque fora isso se tal não se dera, se o mundo parasse e o espaço se excluísse; se a pedra não fosse o símbolo que era pois tudo era um dia, um dia sem dia, porém com o poeta que um dia seria. XV De manhã estrelas verdes na inocência do ar coleado, intranqüilas e veementes. Ao zênite e areia em sede, asas das hastes pendidas, as nuvens-castelas altas como painas amealhadas. De tarde a visão das velas, nuvens baixas sobre as verdes rosas das hastes fictícias; os desejos dissolvidos repousam abertamente; e esse deserto de vozes e estes cabelos perenes de seus nervos para os dramas. Mas se as palmas fossem isso, as fontes seriam pratas,
e as pratas seriam o puro sonho de quem vive. Todavia o sonho é como as palmas dessas palmeiras. Eis as palmas. XVI Os dois ponteiros rodam e rodam, mostrando o horário irregular. Horas inteiras despedaçadas, horas mais horas desmesuradas. Com seu compasso, lá vem a morte pra teu transporte, e com os dois braços: esta é tua hora, levo-te agora. XVII Um te exalou nessa incidência: céu, terra, mar; impermanência. Outro te andou te indo e te vindo pra te juntares, te convergindo Quem te volou, esse te deu o sono no ar. Esse te entoou e te nasceu sem te acordar. XVIII No dia seguinte: chamamos de terra, o poema te leva te dana, te agita, te vinca de cruzes, te envolve de nuvens. Quem sabe aonde vai parar no outro dia? XIX Roteiros vencidos compassam a festa: a noiva está fria
no véu lamentado. Três potros desfraldam-se três faces transcorrem no coche morrido, em vão galopado. O nome do noivo? O nome da noiva? O nome do diabo? Três nomes corridos, três sombras penadas no drama calado. XX Aqui e ali me encontrareis, entre um poema ou em seu curso, além e aquém, oculto e claro, vivo ou demente, ou mesmo morto, ou renascido como meu sósia, intermitente, ferida tórpida. pulso de febre, nesse cavalo, naquela tinta, naquele poema quase alicerce, quase esse infante, esse anjo surdo. Ia esquecendo: eu e meu sósia somos momentos entrelaçados. Ei-lo veemente volta a seu palco, sobe a uma origem, desce de novo, envolto ou nu, esse homem gêmeo, jamais verdugo, mas palma incerta, sendo meu pai, meu filho e neto e aquele longe porém limiar, malgrado e clâmide aberta e alípede, foi argonauta, podia se-lo se esse jacinto não fosse canto, canto de galo crepuscular, profusamente cedo se oculta por essas laudas
sem perceber seu fácil ímpeto ante a palavra visualizada; mas de repente desaparece. Agora eu surjo naquela esquina, naquele pórtico falam de mim; ouço transido esses vocábulos desconhecidos, emerjo em rios que vão passar, mergulho em rumos acontecidos, sucedo em mim, depois vou indo fundo e arrastado na correnteza que é de repentes. Morto incorrupto guardo meus naipes mais pressentidos, intercadentes, desordenados, não há atavios, não há disfarces, dissolução dos prantos largos manando laivos, lanhando aspectos; desacredito-me perante os leves, nem sabedor de alas longevas, se o porvindouro é puro exórdio precocemente desencantado; se os seus presságios remanescidos, salvo-condutos manifestados; correm desvios vulgares trilhos, que todavia prossigo em mim, minha progênie, uns dementados, outros co-réus, reconciliando-me com os mutilados e este glossário que é de meu sósia; abastecido alego dores, crescentes cargas; me patenteio, fico exaltado
sem parecer; depois me espreito na curva adiante, simbolizado, metade em mim inda nascendo, a outra metade superlotada; então me sano excluindo as nucas executáveis; não evidentes nem aberrante me envolvo de alma, doce alimária com alguns anexos aparelhados para colher belas paisagens e outros petrechos do sósia amado; quero sofrer-me, quero imitar-me, fico enpunhado meu corpo no ar, dependurado, meio aderido a alguns palhaços insimulados, portanto, instáveis, muito insossos, muitos até beatificados; ventos corteses bem-parecidos vêm agitar nosso espantalho, enquanto as aves canoramente se desaninham de nossos braços, ossos atados a chão deitados, chãos contestados por figadais, mas afinal chãos estrelados de algumas plantas ambicionadas por umas moças que andando sós se despetalam e virar brisas, fagueiras asas, pelas janelas passam nos vidros, vão aos relógios param os cucos, e a vila fica inteiriçada. dormindo dentro
desse poema recomeçado por novo sósia. XXI As portas finais, os cantos iguais, os pontos cardeais, sempre obsidionais. Os tempos anuais, as faces glaciais, as culpas filiais sempre obsidionais. Os dois iniciais, as dores tais quais, os juízos finais sempre obsidionais. XXII Era uma vinda, dadas as luzes, dadas as faces que ali se achavam, nenhuma espúria, nenhuma enferma, dadas as cores, dadas as falas que ali se achavam; dadas as provas dessas presenças deu-se o milagre em aços doces, em gumes brandos em chamas graves; formou-se um gênio pentangular que começava com a estrela Vésper, riscando a noite sem se acabar; formou-se um lírio na suave treva, gerou-se um grito de tantas vozes, criou-se um fogo correspondente, jorrou-se um pranto desabitado. Era uma tarde: ninguém sabia o que no mundo ia acabar. Sei que houve portas escancaradas, sei que houve apelos antiencarnados. E houve um dilúvio,
mas era um fogo desabrochado. XVIII Quando menos se pensa a sextina é suspensa. E o júbilo mais forte tal qual a taça fruída, antes que para a morte vá o réu da curta vida. Ninguém pediu a vida ao nume que em nós pensa. Ai carne dada à morte! morte jamais suspensa a taça sempre fruída última, única e forte. Orfeu e o estro mais forte dentro da curta vida a taça toda fruída, fronte que já não pensa canção erma, suspensa, Orfeu diante da morte. Vida, paixão e morte, - taças ao fraco e ao forte, taças - vida suspensa. Passa-se a frágil vida, e a taça que se pensa eis rápida fruída. Abandonada, fruída, esvaziada na morte, Orfeu já não mais pensa, Calado o canto forte em cantochão da vida, cortada ária, suspensa. Lira de Orfeu. Suspensa! Suspensa! Ária fruída, sextina artes da vida ser rimada na morte. Eis tua rima forte: rima que mais se pensa. XXIV A sextina começa de novo uma ária espessa, (sextina da procura!) Eurídice nas trevas, Ó Eurídice obscura. Eva entre as outras Evas. Repousai aves, Evas, que a busca recomeça cada vez mais obscura da visão mais espessa repousada nas trevas Ah! difícil procura! Incessante procura entre noturnas Evas, entre divinas trevas,
Eurídice começa a trajetória espessa, a trajetória obscura. Desceu à pátria obscura em que não se procura alguém na sombra espessa e onde sombras são Evas, e onde ninguém começa, mas tudo acaba em trevas. Infernos, Evas, trevas, lua submersa e obscura. Aí a ária começa, e não finda a procura entre as celeste Evas a Eva da terra espessa. Eurídice, Eva espessa, musa de doces trevas, mais que todas as Evas musa obscura, Eva obscura; sextina que procura acabar, e começa. XXV A musa A barba tão preta que era azul, morta que as amantes tão ruivas que eram nulas vem de Amara onze e mais uma, numa só outros morta, em alma, sem cadáver, sem livros tumba, e que amara - morta, morta, morta. XXVI Sombra encantada, declinara num vago dia, incerto dia. Eis uma deusa, pelos gestos, por sua dança, sua órbita. Era preciso compreendê-la, mas quando nós a avizinhávamos, a deusa arisca recuava. Se nós recuávamos, voltava ao nosso encontro, sem tocar-nos. Então corríamos, devassos, quase enlaçando-a: ela fugia. Era uma deusa pelos modos com que mentia e se ausentava. Mas outro dia, vago dia, abrutamente a aprisionamos. O que tu és, deusa, ignoramos, mas desejamos, qualquer coisa fazer de ti, terror ou júbilo ou nossa vênus favorável ou nossa esfera de vocábulos. Ela chorava, não queria; e o pranto logo dissolvia. Então descemos, ventre abaixo e renascemos de seu sexo, - trânsito virgem de palavras. Era uma deusa, pela fúria com que nós todos a ultrajamos.
Era uma deusa e não sabíamos se cada qual mesmo a violou. Era uma deusa, pela dúvida que em cada um de nós, deixou. XXVII Contemplar o jardim além do odor e a mulher silenciosa entre semblantes, e refazê-los todos, todos antes que o tempo condenado os atraiçoe. Porque eu quero, em memória refazê-los: À procura da flor longínqua, mulher, não pertencida, face perdida substância inexistente, móvel vida, intercessão de nadas e cabelos. E meus olhos ausentes me espiando entre as coisas caducas e fugaces a minha intercessão em outras faces. Orfeu, para conhecer teu espetáculo, em que queres senhor, que eu me transforme, ou me forme de novo, em que outro oráculo?
Essa negra fulô Ora, se deu que chegou (isso já faz muito tempo) no bangüê dum meu avô uma negra bonitinha, chamada negra Fulô. Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! (Era a fala da Sinhá) — Vai forrar a minha cama pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, Fulô! Essa negra Fulô! Essa negrinha Fulô! ficou logo pra mucama pra vigiar a Sinhá, pra engomar pro Sinhô! Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! (Era a fala da Sinhá) vem me ajudar, ó Fulô, vem abanar o meu corpo que eu estou suada, Fulô! vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história,
que eu estou com sono, Fulô! Essa negra Fulô! "Era um dia uma princesa que vivia num castelo que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna dum pato saiu na perna dum pinto o Rei-Sinhô me mandou que vos contasse mais cinco". Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! Vai botar para dormir esses meninos, Fulô! "minha mãe me penteou minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o Sabiá beliscou". Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! (Era a fala da Sinhá Chamando a negra Fulô!) Cadê meu frasco de cheiro Que teu Sinhô me mandou? — Ah! Foi você que roubou! Ah! Foi você que roubou! Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! O Sinhô foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, O Sinhô disse: Fulô! (A vista se escureceu que nem a negra Fulô). Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! Cadê meu lenço de rendas, Cadê meu cinto, meu broche, Cadê o meu terço de ouro que teu Sinhô me mandou? Ah! foi você que roubou! Ah! foi você que roubou! Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! O Sinhô foi açoitar sozinho a negra Fulô.
A negra tirou a saia e tirou o cabeção, de dentro dêle pulou nuinha a negra Fulô. Essa negra Fulô! Essa negra Fulô! Ó Fulô! Ó Fulô! Cadê, cadê teu Sinhô que Nosso Senhor me mandou? Ah! Foi você que roubou, foi você, negra fulô? Essa negra Fulô! Pelo silêncio Pelo silêncio que a envolveu, por essa aparente distância inatingida, pela disposição de seus cabelos arremessados sobre a noite escura: pela imobilidade que começa a afastá-la talvez da humana vida provocando-nos o hábito de vê-la entre estrelas do espaço e da loucura; pelos pequenos astros e satélites formando nos cabelos um diadema a iluminar o seu formoso manto, vós que julgais extinta Mira-Celi observai neste mapa o vivo poema que é a vida oculta dessa eterna infanta.
Essa infanta Essa infanta boreal era a defunta em noturna pavana sempre ungida, colorida de galos silenciosos, extrema-ungida de óleos renovados. Hoje é rosa distante prenunciada, cujos cabelos de Altair são dela; dela é a visão dos homens subterrâneos, consolo como chuva desejada. Tendo-a a insônia dos tempos despertado, ontem houve enforcados, hoje guerras, amanhã surgirão campos mais mortos. Ó antípodas, ó pólos, somos trégua, reconciliemo-nos na noite dessa eterna infanta para sempre amada. Essa pavana Essa pavana é para uma defunta
infanta, bem-amada, ungida e santa, e que foi encerrada num profundo sepulcro recoberto pelos ramos de salgueiros silvestres para nunca ser retirada desse leito estranho em que repousa ouvindo essa pavana recomeçada sempre sem descanso, sem consolo, através dos desenganos, dos reveses e obstáculos da vida, das ventanias que se insurgem contra a chama inapagada, a eterna chama que anima esta defunta infanta ungida e bem-amada e para sempre santa. Mulher proletária Mulher proletária — única fábrica que o operário tem, (fabrica filhos) tu na tua superprodução de máquina humana forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário há de ver, há de ver: a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas salvar o teu proprietário.
Manuel Bandeira Teresa A primeira vez que vi Teresa Achei que ela tinha pernas estúpidas Achei também que a cara parecia uma perna Quando vi Teresa de novo Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo (Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse) Da terceira vez não vi mais nada Os céus se misturaram com a terra E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Manuel Bandeira (1990): Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar: 214
Belo Belo Belo belo belo, Tenho tudo quanto quero. Tenho o fogo de constelações extintas há milênios. E o risco brevíssimo — que foi? passou — de tantas estrelas cadentes. A aurora apaga-se, E eu guardo as mais puras lágrimas da aurora. O dia vem, e dia adentro Continuo a possuir o segredo grande da noite. Belo belo belo, Tenho tudo quanto quero. Não quero o êxtase nem os tormentos. Não quero o que a terra só dá com trabalho. As dádivas dos anjos são inaproveitáveis: Os anjos não compreendem os homens. Não quero amar, Não quero ser amado. Não quero combater, Não quero ser soldado. — Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. PCP: 260-261
Belo Belo Belo belo minha bela Tenho tudo que não quero Não tenho nada que quero Não quero óculos nem tosse Nem obrigação de voto Quero quero Quero a solidão dos píncaros A água da fonte escondida A rosa que floresceu Sobre a escarpa inacessível A luz da primeira estrela
Piscando no lusco-fusco Quero quero Quero dar a volta ao mundo Só num navio de vela Quero rever Pernambuco Quero ver Bagdá e Cusco Quero quero Quero o moreno de Estela Quero a brancura de Elisa Quero a saliva de Bela Quero as sardas de Adalgisa Quero quero tanta coisa Belo belo Mas basta de lero-lero Vida noves fora zero. Petrópolis, fevereiro de 1947 – PCP: 281
A morte absoluta Morrer. Morrer de corpo e de alma. Completamente. Morrer sem deixar o triste despojo da carne, A exangue máscara de cera, Cercada de flores, Que apodrecerão - felizes! - num dia, Banhada de lágrimas Nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. Morrer sem deixar porventura uma alma errante... A caminho do céu? Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, A lembrança de uma sombra Em nenhum coração, em nenhum pensamento, Em nenhuma epiderme. Morrer tão completamente Que um dia ao lerem o teu nome num papel Perguntem: "Quem foi?..." Morrer mais completamente ainda, - Sem deixar sequer esse nome.
O anel de vidro Aquele pequenino anel que tu me deste, – Ai de mim – era vidro e logo se quebrou… Assim também o eterno amor que prometeste, - Eterno! era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, Símbolo da afeição que o tempo aniquilou, – Aquele pequenino anel que tu me deste, – Ai de mim – era vidro e logo se quebrou… Não me turbou, porém, o despeito que investe Gritando maldições contra aquilo que amou.
De ti conservo no peito a saudade celeste… Como também guardei o pó que me ficou Daquele pequenino anel que tu me deste…
Paisagem noturna A sombra imensa, a noite infinita enche o vale . . . E lá do fundo vem a voz Humilde e lamentosa Dos pássaros da treva. Em nós, — Em noss'alma criminosa, O pavor se insinua . . . Um carneiro bale. Ouvem-se pios funerais. Um como grande e doloroso arquejo Corta a amplidão que a amplidão continua . . . E cadentes, metálicos, pontuais, Os tanoeiros do brejo, — Os vigias da noite silenciosa, Malham nos aguaçais. Pouco a pouco, porém, a muralha de treva Vai perdendo a espessura, e em breve se adelgaça Como um diáfano crepe, atrás do qual se eleva A sombria massa Das serranias. O plenilúnio via romper . . . Já da penumbra Lentamente reslumbra A paisagem de grandes árvores dormentes. E cambiantes sutis, tonalidades fugidias, Tintas deliqüescentes Mancham para o levante as nuvens langorosas. Enfim, cheia, serena, pura, Como uma hóstia de luz erguida no horizonte, Fazendo levantar a fronte Dos poetas e das almas amorosas, Dissipando o temor nas consciências medrosas E frustrando a emboscada a espiar na noite escura, — A Lua Assoma à crista da montanha. Em sua luz se banha A solidão cheia de vozes que segredam . . . Em voluptuoso espreguiçar de forma nua As névoas enveredam No vale. São como alvas, longas charpas Suspensas no ar ao longe das escarpas. Lembram os rebanhos de carneiros Quando, Fugindo ao sol a pino, Buscam oitões, adros hospitaleiros E lá quedam tranqüilos ruminando . . . Assim a névoa azul paira sonhando . . . As estrelas sorriem de escutar As baladas atrozes Dos sapos. E o luar úmido . . . fino . . .
Amávico . . . tutelar . . . Anima e transfigura a solidão cheia de vozes . . . Teresópolis, 1912
O inútil luar É noite. A Lua, ardente e terna, Verte na solidão sombria A sua imensa, a sua eterna Melancolia . . . Dormem as sombras na alameda Ao longo do ermo Piabanha. E dele um ruído vem de seda Que se amarfanha . . . No largo, sob os jambolanos, Procuro a sombra embalsamada. (Noite, consolo dos humanos! Sombra sagrada!) Um velho senta-se ao meu lado. Medita. Há no seu rosto uma ânsia . . . Talvez se lembre aqui, coitado! De sua infância. Ei-lo que saca de um papel . . . Dobra-o direito, ajusta as pontas, E pensativo, a olhar o anel, Faz umas contas . . . Com outro moço que se cala, Fala um de compleição raquítica. Presto atenção ao que ele fala: — É de política. Adiante uma senhora magra, Em ampla charpa que a modela, Lembra uma estátua de Tanagra. E, junto dela, Outra a entretém, a conversar: — "Mamãe não avisou se vinha. Se ela vier, mando matar Uma galinha." E embalde a Lua, ardente e terna, Verte na solidão sombria A sua imensa, a sua eterna Melancolia . . .
Enquanto a chuva cai A chuva cai. O ar fica mole . . . Indistinto . . . ambarino . . . gris . . . E no monótono matiz Da névoa enovelada bole A folhagem como o bailar. Torvelinhai, torrentes do ar!
Cantai, ó bátega chorosa, As velhas árias funerais. Minh'alma sofre e sonha e goza À cantilena dos beirais. Meu coração está sedento De tão ardido pelo pranto. Dai um brando acompanhamento À canção do meu desencanto. Volúpia dos abandonados . . . Dos sós . . . — ouvir a água escorrer, Lavando o tédio dos telhados Que se sentem envelhecer . . . Ó caro ruído embalador, Terno como a canção das amas! Canta as baladas que mais amas, Para embalar a minha dor! A chuva cai. A chuva aumenta. Cai, benfazeja, a bom cair! Contenta as árvores! Contenta As sementes que vão abrir! Eu te bendigo, água que inundas! Ó água amiga das raízes, Que na mudez das terras fundas Às vezes são tão infelizes! E eu te amo! Quer quando fustigas Ao sopro mau dos vendavais As grandes árvores antigas, Quer quando mansamente cais. É que na tua voz selvagem, Voz de cortante, álgida mágoa, Aprendi na cidade a ouvir Como um eco que vem na aragem A estrugir, rugir e mugir, O lamento das quedas-d'água!
Os sapos Enfunando os papos, Saem da penumbra, Aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que aterra, Berra o sapo-boi: — "Meu pai foi à guerra!" — "Não foi!" — "Foi!" — "Não foi!". O sapo-tanoeiro, Parnasiano aguado, Diz: — "Meu cancioneiro É bem martelado. Vede como primo
Em comer os hiatos! Que arte! E nunca rimo Os termos cognatos! O meu verso é bom Frumento sem joio Faço rimas com Consoantes de apoio. Vai por cinqüenta anos Que lhes dei a norma: Reduzi sem danos A formas a forma. Clame a saparia Em críticas céticas: Não há mais poesia, Mas há artes poéticas . . ." Urra o sapo-boi: — "Meu pai foi rei" — "Foi!" — "Não foi!" — "Foi!" — "Não foi!" Brada em um assomo O sapo-tanoeiro: — "A grande arte é como Lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, Tudo quanto é vário, Canta no martelo." Outros, sapos-pipas (Um mal em si cabe), Falam pelas tripas: — "Sei!" — "Não sabe!" — "Sabe!". Longe dessa grita, Lá onde mais densa A noite infinita Verte a sombra imensa; Lá, fugindo ao mundo, Sem glória, sem fé, No perau profundo E solitário, é Que soluças tu, Transido de frio, Sapo-cururu Da beira do rio 1918, "Estrela da Vida Inteira"
Debussy Para cá, para lá . . . Para cá, para lá . . . Um novelozinho de linha . . . Para cá, para lá . . .
Para cá, para lá . . . Oscila no ar pela mão de uma criança (Vem e vai . . .) Que delicadamente e quase a adormecer o balança — Psio . . . — Para cá, para lá . . . Para cá e . . . — O novelozinho caiu.
O menino doente O menino dorme. Para que o menino Durma sossegado, Sentada ao seu lado A mãezinha canta: — "Dodói, vai-te embora! "Deixa o meu filhinho, "Dorme . . . dorme . . . meu . . ." Morta de fadiga, Ela adormeceu. Então, no ombro dela, Um vulto de santa, Na mesma cantiga, Na mesma voz dela, Se debruça e canta: — "Dorme, meu amor. "Dorme, meu benzinho . . . " E o menino dorme.
Meninos carvoeiros Os meninos carvoeiros Passam a caminho da cidade. — Eh, carvoero! E vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. Os carvões caem. (Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.) — Eh, carvoero! Só mesmo estas crianças raquíticas Vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles . . . Pequenina, ingênua miséria! Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! —Eh, carvoero! Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, Encarapitados nas alimárias,
Apostando corrida, Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. Petrópolis, 1921
Noite morta Noite morta. Junto ao poste de iluminação Os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada. Nem um bêbado. No entanto há seguramente por ela uma procissão de sombras. Sombras de todos os que passaram. Os que ainda vivem e os que já morreram. O córrego chora. A voz da noite . . . (Não desta noite, mas de outra maior.) Petrópolis, 1921
Balõezinhos Na feira do arrabaldezinho Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor: — "O melhor divertimento para as crianças!" Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres, Fitando com olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. No entanto a feira burburinha. Vão chegando as burguesinhas pobres, E as criadas das burguesinhas ricas, E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. Nas bancas de peixe, Nas barraquinhas de cereais, Junto às cestas de hortaliças O tostão é regateado com acrimônia. Os meninos pobres não vêem as ervilhas tenras, Os tomatinhos vermelhos, Nem as frutas, Nem nada. Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. O vendedor infatigável apregoa: — "O melhor divertimento para as crianças!" E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto.
Pneumotórax Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico:
— Diga trinta e três. — Trinta e três . . . trinta e três . . . trinta e três . . . — Respire. ............................................................................................................... — O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. — Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? — Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Porquinho-da-Índia Quando eu tinha seis anos Ganhei um porquinho-da-índia. Que dor de coração me dava Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! Levava ele prá sala Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos Ele não gostava: Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas . . . — O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.
Andorinha Andorinha lá fora está dizendo: — "Passei o dia à toa, à toa!" Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! Passei a vida à toa, à toa . . .
Profundamente Quando ontem adormeci Na noite de São João Havia alegria e rumor Vozes cantigas e risos Ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei Não ouvi mais vozes nem risos Apenas balões Passavam errantes Silenciosamente Apenas de vez em quando O ruído de um bonde Cortava o silêncio Como um túnel. Onde estavam os que há pouco Dançavam Cantavam E riam Ao pé das fogueiras acesas? — Estavam todos dormindo Estavam todos deitados Dormindo Profundamente. Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João Porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo Minha avó Meu avô Totônio Rodrigues Tomásia Rosa Onde estão todos eles? — Estão todos dormindo Estão todos deitados Dormindo Profundamente.
Irene no céu Irene preta Irene boa Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu: — Licença, meu branco! E São Pedro bonachão: — Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
Vou-me embora pra Pasárgada Vou-me embora pra Pasárgada Lá sou amigo do rei Lá tenho a mulher que eu quero Na cama que escolherei Vou-me embora pra Pasárgada Vou-me embora pra Pasárgada Aqui eu não sou feliz Lá a existência é uma aventura De tal modo inconseqüente Que Joana a Louca de Espanha Rainha e falsa demente Vem a ser contraparente Da nora que eu nunca tive E como farei ginástica Andarei de bicicleta Montarei em burro brabo Subirei no pau-de-sebo Tomarei banhos de mar! E quando estiver cansado Deito na beira do rio Mando chamar a mãe-d'água Pra me contar as histórias Que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar Vou-me embora pra Pasárgada Em Pasárgada tem tudo É outra civilização Tem um processo seguro
De impedir a concepção Tem telefone automático Tem alcalóide à vontade Tem prostitutas bonitas Para a gente namorar E quando eu estiver mais triste Mas triste de não ter jeito Quando de noite me der Vontade de me matar — Lá sou amigo do rei — Terei a mulher que eu quero Na cama que escolherei Vou-me embora pra Pasárgada
Canção da parada do Lucas Parada do Lucas — O trem não parou. Ah, se o trem parasse Minha alma incendida Pediria à Noite Dois seios intactos. Parada do Lucas — O trem não parou. Ah, se o trem parasse Eu iria aos mangues Dormir na escureza Das águas defuntas. Parada do Lucas — O trem não parou. Nada aconteceu Senão a lembrança Do crime espantoso Que o tempo engoliu.
Pardalzinho O pardalzinho nasceu Livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, Água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão: A casa era uma prisão, O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou No jardim; a alma, essa voou Para o céu dos passarinhos! Petrópolis, 10-3-1943
O bicho Vi ontem um bicho Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, Não examinava nem cheirava: Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, Não era um gato, Não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Rio, 27 de dezembro de 1947
Arte de amar Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus — ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não.
Cotovia — Alô, cotovia! Aonde voaste, Por onde andaste, Que saudades me deixaste? — Andei onde deu o vento. Onde foi meu pensamento Em sítios, que nunca viste, De um país que não existe . . . Voltei, te trouxe a alegria. — Muito contas, cotovia! E que outras terras distantes Visitaste? Dize ao triste. — Líbia ardente, Cítia fria, Europa, França, Bahia . . . — E esqueceste Pernambuco, Distraída? — Voei ao Recife, no Cais Pousei na Rua da Aurora. — Aurora da minha vida Que os anos não trazem mais! — Os anos não, nem os dias, Que isso cabe às cotovias. Meu bico é bem pequenino Para o bem que é deste mundo:
Se enche com uma gota de água. Mas sei torcer o destino, Sei no espaço de um segundo Limpar o pesar mais fundo. Voei ao Recife, e dos longes Das distâncias, aonde alcança Só a asa da cotovia, — Do mais remoto e perempto Dos teus dias de criança Te trouxe a extinta esperança, Trouxe a perdida alegria. PCP 297-298
Minha grande ternura Minha grande ternura Pelos passarinhos mortos; Pelas pequeninas aranhas. Minha grande ternura Pelas mulheres que foram meninas bonitas E ficaram mulheres feias; Pelas mulheres que foram desejáveis E deixaram de o ser. Pelas mulheres que me amaram E que eu não pude amar. Minha grande ternura Pelos poemas que Não consegui realizar. Minha grande ternura Pelas amadas que Envelheceram sem maldade. Minha grande ternura Pelas gotas de orvalho que São o único enfeite de um túmulo.
Auto-retrato Provinciano que nunca soube Escolher bem uma gravata; Pernambucano a quem repugna A faca do pernambucano; Poeta ruim que na arte da prosa Envelheceu na infância da arte, E até mesmo escrevendo crônicas Ficou cronista de província; Arquiteto falhado, músico Falhado (engoliu um dia Um piano, mas o teclado Ficou de fora); sem família, Religião ou filosofia; Mal tendo a inquietação de espírito Que vem do sobrenatural, E em matéria de profissão Um tísico profissional.
Evocação do Recife Recife Não a Veneza americana Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais Não o Recife dos Mascates Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois — Recife das revoluções libertárias Mas o Recife sem história nem literatura Recife sem mais nada Recife da minha infância A rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras mexericos namoros risadas A gente brincava no meio da rua Os meninos gritavam: Coelho sai! Não sai! A distância as vozes macias das meninas politonavam: Roseira dá-me uma rosa Craveiro dá-me um botão (Dessas rosas muita rosa Terá morrido em botão...) De repente nos longos da noite um sino Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio! Outra contrariava: São José! Totônio Rodrigues achava sempre que era são José. Os homens punham o chapéu saíam fumando E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União... Como eram lindos os montes das ruas da minha infância Rua do Sol (Tenho medo que hoje se chame de dr. Fulano de Tal) Atrás de casa ficava a Rua da Saudade... ...onde se ia fumar escondido Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora... ...onde se ia pescar escondido Capiberibe — Capiberibe Lá longe o sertãozinho de Caxangá Banheiros de palha Um dia eu vi uma moça nuinha no banho Fiquei parado o coração batendo Ela se riu Foi o meu primeiro alumbramento Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras Novenas Cavalhadas E eu me deitei no colo da menina e ela começou
a passar a mão nos meus cabelos Capiberibe — Capiberibe Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas Com o xale vistoso de pano da Costa E o vendedor de roletes de cana O de amendoim que se chamava midubim e não era torrado era cozido Me lembro de todos os pregões: Ovos frescos e baratos Dez ovos por uma pataca Foi há muito tempo... A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros Vinha da boca do povo na língua errada do povo Língua certa do povo Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil Ao passo que nós O que fazemos É macaquear A sintaxe lusíada A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem Terras que não sabia onde ficavam Recife... Rua da União... A casa de meu avô... Nunca pensei que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de eternidade Recife... Meu avô morto. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô.
Poema do beco Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte? — O que eu vejo é o beco
Poética Estou farto do lirismo comedido Do lirismo bem comportado Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor. Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis Estou farto do lirismo namorador Político Raquítico Sifilítico De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo De resto não é lirismo Será contabilidade tabela de co-senos secretário do amante exemplar com cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc
Quero antes o lirismo dos loucos O lirismo dos bêbedos O lirismo difícil e pungente dos bêbedos O lirismo dos clowns de Shakespeare — Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Pensão familiar Jardim da pensãozinha burguesa. Gatos espapaçados ao sol. A tiririca sitia os canteiros chatos. O sol acaba de crestar as boninas que murcharam. Os girassóis amarelo! resistem. E as dálias, rechonchudas, plebéias, dominicais. Um gatinho faz pipi. Com gestos de garçom de restaurant-Palace Encobre cuidadosamente a mijadinha. Sai vibrando com elegância a patinha direita: — É a única criatura fina na pensãozinha burguesa.
Poema tirado de uma notícia de jornal João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro Bebeu Cantou Dançou Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Trem de ferro Café com pão Café com pão Café com pão Virge Maria que foi isso maquinista? Agora sim Café com pão Agora sim Voa, fumaça Corre, cerca Ai seu foguista Bota fogo Na fornalha Que eu preciso Muita força Muita força Muita força (trem de ferro, trem de ferro) Oô... Foge, bicho Foge, povo
Passa ponte Passa poste Passa pasto Passa boi Passa boiada Passa galho Da ingazeira Debruçada No riacho Que vontade De cantar! Oô... (café com pão é muito bom) Quando me prendero No canaviá Cada pé de cana Era um oficiá Oô... Menina bonita Do vestido verde Me dá tua boca Pra matar minha sede Oô... Vou mimbora vou mimbora Não gosto daqui Nasci no sertão Sou de Ouricuri Oô... Vou depressa Vou correndo Vou na toda Que só levo Pouca gente Pouca gente Pouca gente... (trem de ferro, trem de ferro)
O último poema Assim eu quereria o meu último poema. Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.
Guilherme de Almeida Esta vida Um sábio me dizia: esta existência, não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo. E vibra e cresce e se desdobra e estala num segundo. Homem, eis o que somos neste mundo. Assim falou-me o sábio e eu comecei a ver dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um monge me dizia: ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade! Pensa: o tempo anda sempre e não repousa; esta vida não vale grande coisa. Uma mulher que chora, um berço a um canto; o riso, às vezes, quase sempre, um pranto. Depois o mundo, a luta que intimida, quadro círios acesos : eis a vida Isto me disse o monge e eu continuei a ver dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um pobre me dizia: para o pobre a vida, é o pão e o andrajo vil que o cobre. Deus, eu não creio nesta fantasia. Deus me deu fome e sede a cada dia mas nunca me deu pão, nem me deu água. Deu-me a vergonha, a infâmia, a mágoa de andar de porta em porta, esfarrapado. Deu-me esta vida: um pão envenenado. Assim falou-me o pobre e eu continuei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Uma mulher me disse: vem comigo! Fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira que queiras muito e que também te queira. No telhado, um penacho de fumaça. Cortinas muito brancas na vidraça Um canário que canta na gaiola. Que linda a vida lá por dentro rola! Pela primeira vez eu comecei a ver, dentro da própria vida, o encanto de viver.
Flor do asfalto Flor do asfalto, encantada flor de seda, sugestão de um crepúsculo de outono, de uma folha que cai, tonta de sono, riscando a solidão de uma alameda...
Trazes nos olhos a melancolia das longas perspectivas paralelas, das avenidas outonais, daquelas ruas cheias de folhas amarelas sob um silêncio de tapeçaria... Em tua voz nervosa tumultua essa voz de folhagens desbotadas, quando choram ao longo das calçadas, simétricas, iguais e abandonadas, as árvores tristíssimas da rua! Flor da cidade, em teu perfume existe Qualquer coisa que lembra folhas mortas, sombras de pôr de sol, árvores tortas, pela rua calada em que recortas tua silhueta extravagante e triste... Flor de volúpia, flor de mocidade, teu vulto, penetrante como um gume, passa e, passando, como que resume no olhar, na voz, no gesto e no perfume, a vida singular desta cidade!
Maxixe O chocalho dos sapos coaxa como um caracaxá rachado. Tudo mexe. Um vento frouxo enlaga uma nuvem baixa fofa. E desce com ela, desce. E não a deixa e puxa-a como uma faixa e espicha-se e enrolam-se. E o feixe rola e rebola como uma bola na luz roxa da tarde oca boba chocha.
Joaquim Cardozo Aquarela Macaíbeiras chovendo Cheiro de flor amarela; Cheiro de chão que amanhece. Estavas sob a latada Quando te abri a janela. Cheiro de jasmim laranja Pelos jardins anoitece; Junto a papoulas dobradas, Num canteiro florescendo, A tua saia singela. Macaíbeiras chovendo Cheiro de flor amarela... Não sei se és tu, se eras outra, Não sei se és esta ou aquela, A que não quis nem me quer, Fugindo sob a latada Nessa tarde de aquarela. Macaíbeiras chovendo Cheiro de flor amarela...
Chuva de caju Como te chamas, pequena chuva inconstante e breve? Como te chamas, dize, chuva simples e leve? Teresa? Maria? Entra, invade a casa, molha o chão, Molha a mesa e os livros. Sei de onde vens, sei por onde andaste. Vens dos subúrbios distantes, dos sítios aromáticos Onde as mangueiras florescem, onde há cajus e mangabas, Onde os coqueiros se aprumam nos baldes dos viveiros e em noites de lua cheia passam rondando os maruins: Lama viva, espírito do ar noturno do mangue. Invade a casa, molha o chão, Muito me agrada a tua companhia, Porque eu te quero muito bem, doce chuva, Quer te chames Teresa ou Maria.
Menina Os teus olhos de água, Olhos frios e longos, Esta noite penetraram. Esta noite me envolveram. Bem querida madrugada... Olhos de sombra, olhos de tarde Trazem miragens de meninas... Bundas que parecem rosas.
Sob o caminho de muitas luas O teu corpo floresceu.
Poema Eu não quero o teu corpo Eu não quero a tua alma, Eu deixarei intato o teu ser a tua pessoa inviolável Eu quero apenas uma parte neste prazer A parte que não te pertence.
Espumas do Mar Cavalos ligeiros De eriçadas crinas Por que sobre as ondas Passais sem parar? Vencendo procelas, Ressacas em flor, Num fulgor de estrelas A poeira das águas Fazeis levantar. Espumas do mar. Nas serenas curvas Da carne marinha Há sopros, há fugas De véus a ondular; Vestidos de rendas... Vestidos, mortalhas De noivas morenas Que em noites de lua Virão se afogar. Virão se afogar. Se há fomes noturnas Mordendo e chorando, Lívidas, remotas Fúrias soltas no ar, Que os lábios do vento Se abrindo devorem A flor de farinha Que as vagas maiores Irão derramar. Espumas do mar. Nesse fogo verde De cinza tão branca Que se apure um mel De brilho sem par; Turbinas, moendas No giro girando E o açúcar nascendo
Na folha das ondas Constante a rolar. Constante a rolar. Sobre os seios mansos Das baías claras Em puro abandono Não hei de ficar; Saudades das ilhas, Amor dos navios, Segredo das águas Nas barras dos rios Irei desvendar. Espumas do mar. Em mares incertos Irei navegar; E direi louvores Às velas latinas Por bem velejar; Louvores direi Aos lírios de sal E às vozes dos búzios Que sabem cantar. Que sabem cantar. Teu rosto esqueci, Teus olhos? Não sei... Da face marcada O espelho quebrei De muito sonhar; Nos laços retidos Das águas profundas Tesouros perdidos Quem há de encontrar? Espumas do mar.
Imagens do Nordeste Sobre o capim orvalhado Por baixo das mangabeiras Há rastros de luz macia: Por aqui passaram luas, Pousaram aves bravias. Idílio de amor perdido, Encanto de moça nua Na água triste da camboa; Em junhos do meu Nordeste Fantasma que me povoa. Asa e flor do azul profundo, Primazia do mar alto, Vela branca predileta; Na transparência do dia És a flâmula discreta. És a lâmina ligeira
Cortando a lã dos cordeiros, Ferindo os ramos dourados; – Chama intrépida e minguante nos ares maravilhados. E enquanto o sol vai descendo O vento recolhe as nuvens E o vento desfaz a lã; Vela branca desvairada, Mariposa da manhã. Velho calor de Dezembro, Chuva das águas primeiras Feliz batendo nas telhas; Verão de frutas maduras, Verão de mangas vermelhas. A minha casa amarela Tinha seis janelas verdes Do lado do sol nascente; Janelas sobre a esperança Paisagem, profundamente. Abri as leves comportas E as águas duras fundiram; Num sopro de maresia Viveiros se derramaram Em noites de pescaria. Camarupim, Mamanguape, Persinunga, Pirapama, Serinhaém, Jaboatão; Cruzando barras de rios Me perdi na solidão. Me afastei sobre a planície Das várzeas crepusculares; Vi nuvens em torvelinho, Estrelas de encruzilhadas Nos rumos do meu caminho. ............................................................ Salinas de Santo Amaro, Ondas de terra salgada, Revoltas, na escuridão, De silêncio e de naufrágio Cobrindo a tantos no chão. Terra crescida, plantada De muita recordação.
Alucinação em branco Nessas barracas em branco Quem misteriosamente teria se escondido? São barracas de campanha, ou de passar todo o verão no campo. Lembram também cordas de mastros
Dos quais as velas se ausentaram. Pois as velas voaram enfunadas e suspensas No ar, que é – sonho das asas – Todo o branco do contorno, Navegam em limpas atmosferas. São panos estendidos ao sol Para secar, no quintal de alguma casa; Grandes lençóis ondulantes Ao vento que vem e vai, Ao vento que não pára de agitá-los. Há um jogo de pontas nesses mastros, Pontas dirigidas em todos os sentidos. E as linhas e as sobre-linhas, Se orientam como se fosse possível Substituir definitivamente, Todo o branco do papel.
O Relógio Quem é que sobe as escadas Batendo o liso degrau? Marcando o surdo compasso Com uma perna de pau? Quem é que tosse baixinho Na penumbra da ante-sala? Por que resmunga sozinho? Por que não cospe e não fala? Por que dois vermes sombrios Passando na face morta? E o mesmo sopro contínuo Na frincha daquela porta? Da velha parede triste No musgo roçar macio: São horas leves e tenras Nascendo do solo frio. Um punhal feriu o espaço... E o alvo sangue a gotejar; Deste sangue os meus cabelos Pela vida hão de sangrar. Todos os grilos calaram Só o silêncio assobia; Parece que o tempo passa Com sua capa vazia. O tempo enfim cristaliza Em dimensão natural; Mas há demônios que arpejam Na aresta do seu cristal. No tempo pulverizado Há cinza também da morte: Estão serrando no escuro As tábuas da minha sorte.
A tarde sobe Ao rés da Terra o tempo é escuro Mas a tarde sobe, se ergue no ar tranqüilo e doce A tarde sobe! No alto se ilumina, se esclarece. E paira na região iluminada. Sobe, desfaz a trama de entrelaços Superpostos na maneira dos esquadros Sobre o chão aos poucos escurecendo. Sobe: No meio da parte densa. Sobe alva, serena para as estrelas Que irão em breve aparecer, Luzindo, no princípio da noite; No espaço branco em que se completa Preenchendo o centro e a esquerda Branco que saiu limpo De um fundo escuro de hachuras. A tarde sobe! Sobe até o zênite dando aos que passam A paz e a serenidade do entardecer. A tarde sobe pura e macia! As linhas de baixo se inclinam Se afastam e vão deixá-la subir.
Poesia em homenagem a Isidore Ducasse Eu vi Maldoror passar com os seus anjos malignos, Eu vi Maldoror passar montado no seu cavalo, seguido do seu buldogue, Eu vi Maldoror passar nas ruas de Paris. A lâmpada de bico de prata, parada, ficou brilhando, Por baixo da Ponte Maria. Depois de um inverno rude de remorsos, Eu enfim recebi um beijo de primavera, Vindo na placidez dos rios tranqüilos Através desta terra idílica e francesa. Que faz Maldoror terrível nesta cidade de Santa Genoveva Agora que estão vibrando os sinos de São Germano? Agora que os sinos estão saudando o dia da Assunção? Maldoror, Maldoror, vai para o mar. Passei ao longo dos rios bons, estive entre as árvores eternas Deste bosque dourado onde o hermafrodita está dormindo Rodeado de flores! Ouvi palavras amargas nas vozes do dia, Caminhei longamente nos tempos futuros, Vi rostos felizes, sorrindo, debruçados Nas margens da rua, Por onde levava a minha alma repleta De votos de esperança, de atos de poesia. Maldoror, Maldoror, vai para o mar.
Paris, 1938
A escultura folheada Aqui está um livro Um livro de gravuras coloridas; Há um ponto-furo. um simples ponto simples furo E nada mais. Abro a capa do livro e Vejo por trás da mesma que o furo continua; Folheio as páginas, uma a uma. - Vou passando as folhas, devagar, o furo continua Noto que, de repente, o furo vai se alargando Se abrindo, florindo, emprenhando, Compondo um volume vazio, irregular, interior e conexo: Superpostas aberturas recortadas nas folhas do livro, Têm a forma rara de uma escultura vazia e fechada, Uma variedade, uma escultura guardada dentro de um livro, Escultura de nada: ou antes, de um pseudo-não; Fechada, escondida, para todos os que não quiserem Folhear o livro. Mas, prossigo desfolhando: Agora a forma vai de novo se estreitando Se afunilando, se reduzindo, desaparecendo/surgindo E na capa do outro lado se tornando novamente Um ponto-furo, um simples ponto simples furo E nada mais. Os seres que a construíram, simples formigas aladas, Evoluíam sob o sol de uma lâmpada Onde perderam as asas. Caíram. As linhas de vôo, incertas e belas, aluíram; Mas essas linhas volantes, a princípio, foram se reproduzindo nas folhas do livro, compondo desenhos De fazer inveja aos mais “ sábios artistas”. Circunvagueando, indecisas nas primeiras páginas, À procura da forma formante e formada. Seus vôos transcritos, “refletidos” nessas primeiras linhas, Enfim se aprofundam, se avolumam no vazio De uma escultura escondida, no escuro do interno; Somente visível, “de fora”, por dois pontos; Dois pontos furos: simples pontos simples furos E nada mais.
Poema dedicado a Maria Luíza Eu te quero a ti e somente, Eu que compreendia a beleza das prostitutas e dos portos, Que sofri a violência da solidão no meio das multidões das grandes ruas, Que vi paisagens do céu erguidas sobre a noite do mais alto e puro mar, Que errei por muito tempo nos jardins deliciosos dos amores incertos e obscuros. Eu te quero a ti sempre e somente. Eu te quero a ti pura e tranqüila Preciosa entre todas as mulheres Que como rosas, como lírios, sobre mim se debruçaram,
Entre aquelas que de mim se aperceberam Ao doce esmaecer das tardes luminosas. Eu te quero a ti pura e tranqüila. Nos espelhos da memória refletida Pelas horas do meu tempo transpareces E o Sol do meu deserto te ilumina E a noite do meu sono te adormece. Eu te pressinto no silêncio das verdades que ignoro, No silêncio e no delírio dos desejos impossíveis: através de um céu sem nuvens, do céu que é um prisma azul Eu te revelarei a cor da tempestade E a refração serena do meu mais íntimo segredo... Em horizontes de ouro e de basalto Indicarei o teu caminho Entre flores de luar... Farei uma lenda sobre teus cabelos... Soneto Somente Nasci na várzea do Capibaribe De terra escura, de macio turvo, De luz dourada no horizonte curvo E onde a água doce, o massapê proíbe. Sua presença para mim se exibe No seu ar sereno que inda hoje absorvo, E nas noites, com negridão de corvo. Antes que ao porto do seu céu arribe A lua. Assim só tenho essa planície... Pois tudo quanto fiz foi superfície De inúteis coisas vãs, humanamente. De glórias e de alturas e universos Não tenho o que dizer nestes meus versos: – Nessa várzea nasci, nasci somente.
As Alvarengas "Tous les chemins vont vers la ville” - Verhaeren As alvarengas! Ei-las que vão e vem; outras paradas, Imóveis. O ar silêncio. Azul céu, suavemente. Na tarde sombra o velho cais do Apolo. O sol das cinco ascende um farol no zimbório Da Assembléia. As alvarengas! Madalena. Deus te guie, flor de Zongue. Negros curvando os dorsos nus Impelem-nas ligeiras. Vem de longe, dos campos saqueados. Onde é tenaz a luta entre o Homem e a Terra. Trazendo, nos bojos negros. Para a cidade. A ignota riqueza que o solo vencido abandona. O latente rumor das florestas despedaçadas. A cidade voragem. É o Moloch, é o abismo, é a caldeira... Além, pelo ar distante e sobre as casas. As chaminés fumegam e o vento alonga. O passo de parafuso.
E lentas. Vão seguindo, negras, jogando, cansadas; E seguindo-as também, em curvas n’água propagadas. A dor da terra, o clamor das raízes
Tarde no Recife Tarde no Recife. Da ponta Maurício o céu e a cidade. Fachada verde do Café Máxime. Cais do Abacaxi. Gameleiras. Da torre do Telégrafo Ótico A voz colorida das bandeiras anuncia Que vapores entraram no horizonte. Tanta gente apressada, tanta mulher bonita. A tagarelice dos bondes e dos automóveis. Um carreto gritando — alerta! Algazarra, Seis horas. Os sinos. Recife romântico dos crepúsculos das pontes. Dos longos crepúsculos que assistiram à passagem [dos fidalgos holandeses. Que assistem agora ao mar, inerte das ruas tumultuosas, Que assistirão mais tarde à passagem de aviões para as costas [do Pacífico. Recife romântico dos crepúsculos das pontes. E da beleza católica do rio.
Recordações de Tramataia Eu vi nascer as luas fictícias Que fazem surgir no espaço a curva das marés. Garças brancas voavam sobre os altos mangues de [Tramataia. Bandos de Jandaias passavam sobre os coqueiros doidos de Tramataia. E havia um desejo de gente na casa de farinha e nos [mucambos vazios de Tramataia Todavia! Todavia! Eu gostava de olhar as nuvens grandes, brancas e sólidas. Eu tinha o encanto esportivo de nadar e de dormir. Se eu morresse agora, Se eu morresse precisamente. Neste momento, Duas boas lembranças levaria: A visão do mar do alto da Misericórdia de Olinda ao [nascer do verão. E a saudade de Josefa. A pequena namorada do meu amigo de Tramataia.
1930 Na estranha madrugada O homem alto, transpondo o portão da velha casa, depõe no chão frio. O corpo inanimado do seu irmão. Da sombra das velhas mangueiras, por um momento,
Surgiram, curiosas, as sombras dos melhores her贸is de Pernambuco antigo. Sobre o corpo caiam gotas de orvalho e flores de cajueiro.
Raul Bopp Cobra Norato (fragmentos) I Um dia ainda eu hei de morar nas terras do Sem-Fim. Vou andando, caminhando, caminhando; me misturo rio ventre do mato, mordendo raízes. Depois faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a Cobra Norato. — Quero contar-te uma história: Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega mansinho. Estrelas conversam em voz baixa. O mato já se vestiu. Brinco então de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora, sim, me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr mundo: Vou visitar a rainha Luzia. Quero me casar com sua filha. — Então você tem que apagar os olhos primeiro. O sono desceu devagar pelas pálpebras pesadas. Um chão de lama rouba a força dos meus passos.
II Começa agora a floresta cifrada. A sombra escondeu as árvores. Sapos beiçudos espiam no escuro. Aqui um pedaço de mato está de castigo. Árvorezinhas acocoram-se no charco. Um fio de água atrasada lambe a lama. — Eu quero é ver a filha da rainha Luzia! Agora são os rios afogados, bebendo o caminho. A água vai chorando afundando afundando. Lá adiante a areia guardou os rastos da filha da rainha Luzia. — Agora sim, vou ver a filha da rainha Luzia!
Mas antes tem que passar por sete portas Ver sete mulheres brancas de ventres despovoados guardadas por um jacaré. — Eu só quero a filha da rainha Luzia. Tem que entregar a sombra para o bicho do fundo Tem que fazer mironga na lua nova. Tem que beber três gotas de sangue. — Ah, só se for da filha da rainha Luzia! A selva imensa está com insônia. Bocejam árvores sonolentas. Ai, que a noite secou. A água do rio se quebrou. Tenho que ir-me embora. E me sumo sem rumo no fundo do mato onde as velhas árvores grávidas cochilam. De todos os lados me chamam: — Onde vai, Cobra Norato? Tenho aqui três árvorezinhas jovens, à tua espera. — Não posso. Eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia.
IV Esta é a floresta de hálito podre, parindo cobras. Rios magros obrigados a trabalhar. A correnteza arrepiada junto às margens descasca barrancos gosmentos. Raízes desdentadas mastigam lodo. A água chega cansada. Resvala devagarinho na vasa mole com medo de cair. A lama se amontoa. Num estirão alagado o charco engole a água do igarapé. Fede... Vento mudou de lugar. Juntam-se léguas de mato atrás dos pântanos de aninga. Um assobio assusta as árvores. Silêncio se machucou. Cai lá adiante um pedaço de pau seco:
Pum Um berro atravessa a floresta. Correm cipós fazendo intrigas no alto dos galhos. Amarram as árvorezinhas contrariadas. Chegam vozes. Dentro do mato pia a jurucutu. — Não posso. Eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia. XXXII — E agora, compadre, eu vou de volta pro Sem-Fim. Vou lá para as terras altas, onde a serra se amontoa, onde correm os rios de águas claras em matos de molungu. Quero levar minha noiva. Quero estarzinho com ela numa casa de morar, com porta azul piquininha pintada a lápis de cor. Quero sentir a quentura do seu corpo de vaivém. Querzinho de ficar junto quando a gente quer bem, bem; Ficar à sombra do mato ouvir a jurucutu, águas que passam cantando pra gente se espreguiçar, E quando estivermos à espera que a noite volte outra vez eu hei de contar histórias (histórias de não-dizer-nada) escrever nomes na areia pro vento brincar de apagar.
Monjolo Chorado do Bate-Pilão Fazenda velha. Noite e dia Bate-pilão. Negro passa a vida ouvindo Bate-pilão. Relógio triste o da fazenda. Bate-pilão.
Negro deita. Negro acorda. Bate-pilão. Quebra-se a tarde. Ave-Maria. Bate-pilão. Chega a noite. Toda a noite Bate-pilão. Quando há velório de negro Bate-pilão. Negro levado pra cova Bate-pilão.
Coco de Pagu Pagu tem os olhos moles uns olhos de fazer doer. Bate-côco quando passa. Coração pega a bater. Eh Pagu eh! Dói porque é bom de fazer doer. Passa e me puxa com os olhos provocantissimamente. Mexe-mexe bamboleia pra mexer com toda a gente. Eh Pagu eh! Dói porque é bom de fazer doer. Toda a gente fica olhando o seu corpinho de vai-e-vem umbilical e molengo de não-sei-o-que-é-que-tem. Eh Pagu eh! Dói porque é bom de fazer doer. Quero porque te quero Nas formas do bem-querer. Querzinho de ficar junto que é bom de fazer doer. Eh Pagu eh! Dói porque é bom de fazer doer.
Cecília Meirelles Balada das dez bailarinas do cassino Dez bailarinas deslizam por um chão de espelho. Têm corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos. Levantam véus brancos, de ingênuos aromas, e dobram amarelos joelhos. Andam as dez bailarinas sem voz, em redor das mesas. Há mãos sobre facas, dentes sobre flores e com os charutos toldam as luzes acesas. Entre a música e a dança escorre uma sedosa escada de vileza. As dez bailarinas avançam como gafanhotos perdidos. Avançam, recuam, na sala compacta, empurrando olhares e arranhando o ruído. Tão nuas se sentem que já vão cobertas de imaginários, chorosos vestidos. A dez bailarinas escondem nos cílios verdes as pupilas. Em seus quadris fosforescentes, passa uma faixa de morte tranqüila. Como quem leva para a terra um filho morto, levam seu próprio corpo, que baila e cintila. Os homens gordos olham com um tédio enorme as dez bailarinas tão frias. Pobres serpentes sem luxúria, que são crianças, durante o dia. Dez anjos anêmicos, de axilas profundas, embalsamados de melancolia. Vão perpassando como dez múmias, as bailarinas fatigadas. Ramo de nardos inclinando flores azuis, brancas, verdes, douradas. Dez mães chorariam, se vissem as bailarinas de mãos dadas. (in Mar Absoluto e outros poemas: Retrato Natural. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983.)
Lamento do oficial por seu cavalo morto Nós merecemos a morte, porque somos humanos e a guerra é feita pelas nossas mãos, pelo nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra, por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens que trazemos por dentro, e ficam sem explicação. Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia, os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos.
Temos até os átomos por cúmplices, e que pecados de ciência, pelo mar, pelas nuvens, nos astros! Que delírio sem Deus, nossa imaginação! E aqui morreste! Oh, tua morte é a minha, que, enganada, recebes. Não te queixas. Não pensas. Não sabes. Indigno, ver parar, pelo meu, teu inofensivo coração. Animal encantado - melhor que nós todos! - que tinhas tu com este mundo dos homens? Aprendias a vida, plácida e pura, e entrelaçada em carne e sonho, que os teus olhos decifravam... Rei das planícies verdes, com rios trêmulos de relinchos... Como vieste morrer por um que mata seus irmãos! (in Mar Absoluto e outros poemas)
Canção Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar; - depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio; debaixo da água vai morrendo meu sonho, dentro de um navio... Chorarei quanto for preciso, para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito; praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas.
Murmúrio Traze-me um pouco das sombras serenas que as nuvens transportam por cima do dia! Um pouco de sombra, apenas, - vê que nem te peço alegria. Traze-me um pouco da alvura dos luares que a noite sustenta no teu coração! A alvura, apenas, dos ares: - vê que nem te peço ilusão. Traze-me um pouco da tua lembrança, aroma perdido, saudade da flor!
- Vê que nem te digo - esperança! - Vê que nem sequer sonho - amor!
Canção No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas... Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes guardando sempre o mesmo rosto Quando as ondas te carregaram meu olhos, entre águas e areias, cegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento, e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim: e só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim.
4°. motivo da rosa Não te aflijas com a pétala que voa: também é ser, deixar de ser assim. Rosas verá, só de cinzas franzida, mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos ao longe, o vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim.
Serenata Permita que eu feche os meus olhos, pois é muito longe e tão tarde! Pensei que era apenas demora, e cantando pus-me a esperar-te. Permite que agora emudeça: que me conforme em ser sozinha. Há uma doce luz no silencio, e a dor é de origem divina. Permite que eu volte o meu rosto para um céu maior que este mundo,
e aprenda a ser dócil no sonho como as estrelas no seu rumo.
Motivo Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste: sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, — não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo: — mais nada.
Discurso E aqui estou, cantando. Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa. Venho de longe e vou para longe: mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho e não vi nada, porque as ervas cresceram e as serpentes andaram. Também procurei no céu a indicação de uma trajetória, mas houve sempre muitas nuvens. E suicidaram-se os operários de Babel. Pois aqui estou, cantando. Se eu nem sei onde estou, como posso esperar que algum ouvido me escute? Ah! Se eu nem sei quem sou, como posso esperar que venha alguém gostar de mim?
Retrato Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas; eu não tinha este coração
que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil: — Em que espelho ficou perdida a minha face?
Gargalhada Homem vulgar! Homem de coração mesquinho! Eu te quero ensinar a arte sublime de rir. Dobra essa orelha grosseira, e escuta o ritmo e o som da minha gargalhada: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Não vês? É preciso jogar por escadas de mármores baixelas de ouro. Rebentar colares, partir espelhos, quebrar cristais, vergar a lâmina das espadas e despedaçar estátuas, destruir as lâmpadas, abater cúpulas, e atirar para longe os pandeiros e as liras... O riso magnífico é um trecho dessa música desvairada. Mas é preciso ter baixelas de ouro, compreendes? — e colares, e espelhos, e espadas e estátuas. E as lâmpadas, Deus do céu! E os pandeiros ágeis e as liras sonoras e trêmulas... Escuta bem: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Só de três lugares nasceu até hoje essa música heróica: do céu que venta, do mar que dança, e de mim.
Fio No fio da respiração, rola a minha vida monótona, rola o peso do meu coração. Tu não vês o jogo perdendo-se como as palavras de uma canção. Passas longe, entre nuvens rápidas, com tantas estrelas na mão... — Para que serve o fio trêmulo em que rola o meu coração?
Atitude
Minha esperança perdeu seu nome... Fechei meu sonho, para chamá-la. A tristeza transfigurou-me como o luar que entra numa sala. O último passo do destino parará sem forma funesta, e a noite oscilará como um dourado sino derramando flores de festa. Meus olhos estarão sobre espelhos, pensando nos caminhos que existem dentro das coisas transparentes. E um campo de estrelas irá brotando atrás das lembranças ardentes.
Noções Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar, e investiga o elemento que a atinge. Mas, nesta aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Virei-me sobre a minha própria existência, e contemplei-a Minha virtude era esta errância por mares contraditórios, e este abandono para além da felicidade e da beleza. Ó meu Deus, isto é a minha alma: qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário, como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera...
Herança Eu vim de infinitos caminhos, e os meus sonhos choveram lúcido pranto pelo chão. Quando é que frutifica, nos caminhos infinitos, essa vida, que era tão viva, tão fecunda, porque vinha de um coração? E os que vierem depois, pelos caminhos infinitos, do pranto que caiu dos meus olhos passados, que experiência, ou consolo, ou prêmio alcançarão?
Timidez Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve,
para que venhas comigo e eu para sempre te leve... — mas só esse eu não farei. Uma palavra caída das montanhas dos instantes desmancha todos os mares e une as terras mais distantes... — palavra que não direi. Para que tu me adivinhes, entre os ventos taciturnos, apago meus pensamentos, ponho vestidos noturnos, — que amargamente inventei. E, enquanto não me descobres, os mundos vão navegando nos ares certos do tempo, até não se sabe quando... — e um dia me acabarei.
Interlúdio As palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Não me digas que há futuro nem passado. Deixa o presente — claro muro sem coisas escritas. Deixa o presente. Não fales, Não me expliques o presente, pois é tudo demasiado. Em águas de eternamente, o cometa dos meus males afunda, desarvorado. Fico ao teu lado.
Encomenda Desejo uma fotografia como esta — o senhor vê? — como esta: em que para sempre me ria como um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixe esta ruga, que me empresta um certo ar de sabedoria.
Não meta fundos de floresta nem de arbitrária fantasia... Não... Neste espaço que ainda resta, ponha uma cadeira vazia.
Reinvenção A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas... Ah! tudo bolhas que vem de fundas piscinas de ilusionismo... — mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua Figura. Tudo mentira! Mentira da lua, na noite escura. Não te encontro, não te alcanço... Só — no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só — na treva, fico: recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.
Ísis E diz-me a desconhecida: "Mais depressa! Mais depressa! "Que eu vou te levar a vida! . . . "Finaliza! Recomeça! "Transpõe glórias e pecados! . . ." Eu não sei que voz seja essa Nos meus ouvidos magoados: Mas guardo a angústia e a certeza De ter os dias contados . . . Rolo, assim, na correnteza Da sorte que se acelera, Entre margens de tristeza, Sem palácios de quimera, Sem paisagens de ventura, Sem nada de primavera . . . Lá vou, pela noite escura, Pela noite de segredo, Como um rio de loucura . . .
Tudo em volta sente medo . . . E eu passo desiludida, Porque sei que morro cedo . . . Lá me vou, sem despedida . . . Às vezes, quem vai, regressa . . . E diz-me a Desconhecida: "Mais depressa" Mais depressa" . . .
Depois do sol... Fez-se noite com tal mistério, Tão sem rumor, tão devagar, Que o crepúsculo é como um luar Iluminando um cemitério . . . Tudo imóvel . . . Serenidades . . . Que tristeza, nos sonhos meus! E quanto choro e quanto adeus Neste mar de infelicidades! Oh! Paisagens minhas de antanho . . . Velhas, velhas . . . Nem vivem mais . . . — As nuvens passam desiguais, Com sonolência de rebanho . . . Seres e coisas vão-se embora . . . E, na auréola triste do luar, Anda a lua, tão devagar, Que parece Nossa Senhora Pelos silêncios a sonhar . . .
Suavíssima Os galos cantam, no crepúsculo dormente . . . No céu de outono, anda um langor final de pluma Que se desfaz por entre os dedos, vagamente . . . Os galos cantam, no crepúsculo dormente . . . Tudo se apaga, e se evapora, e perde, e esfuma . . . Fica-se longe, quase morta, como ausente . . . Sem ter certeza de ninguém . . . de coisa alguma . . . Tem-se a impressão de estar bem doente, muito doente, De um mal sem dor, que se não saiba nem resuma . . . E os galos cantam, no crepúsculo dormente . . . Os galos cantam, no crepúsculo dormente . . . A alma das flores, suave e tácita, perfuma A solitude nebulosa e irreal do ambiente . . . Os galos cantam, no crepúsculo dormente . . . Tão para lá! . . . No fim da tarde . . . além da bruma . . . E silenciosos, como alguém que se acostuma A caminhar sobre penumbras, mansamente, Meus sonhos surgem, frágeis, leves como espuma . . . Põem-se a tecer frases de amor, uma por uma . . . E os galos cantam, no crepúsculo dormente . . .
Marinha O barco é negro sobre o azul. Sobre o azul os peixes são negros. Desenham malhas negras as redes, sobre o azul.
Sobre o azul, os peixes são negros. Negras são as vozes dos pescadores, atirando-se palavras no azul. É o último azul do mar e do céu. A noite já vem, dos lados de Burma, toda negra, molhada de azul: — a noite que chega também do mar.
Pássaro Aquilo que ontem cantava já não canta. Morreu de uma flor na boca: não do espinho na garganta. Ele amava a água sem sede, e, em verdade, tendo asas, fitava o tempo, livre de necessidade. Não foi desejo ou imprudência: não foi nada. E o dia toca em silêncio a desventura causada. Se acaso isso é desventura: ir-se a vida sobre uma rosa tão bela, por uma tênue ferida.
Máquina breve O pequeno vaga-lume com sua verde lanterna, que passava pela sombra inquietando a flor e a treva — meteoro da noite, humilde, dos horizontes da relva; o pequeno vaga-lume, queimada a sua lanterna, jaz carbonizado e triste e qualquer brisa o carrega: mortalha de exíguas franjas que foi seu corpo de festa. Parecia uma esmeralda e é um ponto negro na pedra. Foi luz alada, pequena estrela em rápida seta. Quebrou-se a máquina breve na precipitada queda. E o maior sábio do mundo sabe que não a conserta.
De um lado cantava o sol De um lado cantava o sol, do outro, suspirava a lua. No meio, brilhava a tua face de ouro, girassol!
Ó montanha da saudade a que por acaso vim: outrora, foste um jardim, e és, agora, eternidade! De longe, recordo a cor da grande manhã perdida. Morrem nos mares da vida todos os rios do amor? Ai! celebro-te em meu peito, em meu coração de sal, Ó flor sobrenatural, grande girassol perfeito! Acabou-se-me o jardim! Só me resta, do passado, este relógio dourado que ainda esperava por mim . . .
Cronista enamorado do sagüim O sagüim é um animalzinho assaz bonito: é mesmo o mais bonito de todos, pela selva; anda nas árvores, esconde-se, espia, foge depressa e há deles, na terra viçosa, número infinito. Se qualquer rei da Europa o visse, gostaria de possuí-lo como um brinquedo, vindo de longe, e raro. Mas é o sagüim animalzinho tão delicado que a uma viagem tão longa não resistiria. A cara do sagüim é como a de um leãozinho, e pode-se conseguir que ele pouse no nosso ombro. O sagüim mais bonito de todos é o sagüim louro, que tem uma expressão de inteligência e carinho. Ele pode descer a comer à nossa mão! Graciosa é a sua maneira de olhar. Gracioso é o movimento do seu corpo inteiro, tão leve e breve! Mas os melhores, só no Rio de Janeiro se encontram: se encontram apenas nesta cidade, a mui formosa.
Romance II ou do ouro incansável Mil bateias vão rodando sobre córregos escuros; a terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos; infinitas galerias penetram morros profundos. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo; torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho . . . É tão claro! — e turva tudo: honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes, e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos, definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome
sobre a riqueza da terra: uns querem metais luzentes, outros, as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos; cada família disputa privilégios mais antigos; os impostos vão crescendo e as cadeias vão subindo. Por ódio, cobiça, inveja, vai sendo o inferno traçado. Os reis querem seus tributos, — mas não se encontram vassalos. Mil bateias vão rodando, mil bateias sem cansaço. Mil galerias desabam; mil homens ficam sepultos; mil intrigas, mil enredos prendem culpados e justos; já ninguém dorme tranqüilo, que a noite é um mundo de sustos. Descem fantasmas dos morros, vêm almas dos cemitérios: todos pedem ouro e prata, e estendem punhos severos, mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro.
Romance XXI ou das idéias A vastidão desses campos. A alta muralha das serras. As lavras inchadas de ouro. Os diamantes entre as pedras. Negros, índios e mulatos. Almocrafes e gamelas. Os rios todos virados. Toda revirada, a terra. Capitães, governadores, padres intendentes, poetas. Carros, liteiras douradas, cavalos de crina aberta. A água a transbordar das fontes. Altares cheios de velas. Cavalhadas. Luminárias. Sinos, procissões, promessas. Anjos e santos nascendo em mãos de gangrena e lepra. Finas músicas broslando as alfaias das capelas. Todos os sonhos barrocos deslizando pelas pedras. Pátios de seixos. Escadas. Boticas. Pontes. Conversas. Gente que chega e que passa. E as idéias. Amplas casas. Longos muros. Vida de sombras inquietas. Pelos cantos da alcovas, histerias de donzelas.
Lamparinas, oratórios, bálsamos, pílulas, rezas. Orgulhosos sobrenomes. Intrincada parentela. No batuque das mulatas, a prosápia degenera: pelas portas dos fidalgos, na lã das noites secretas, meninos recém-nascidos como mendigos esperam. Bastardias. Desavenças. Emboscadas pela treva. Sesmarias, salteadores. Emaranhadas invejas. O clero. A nobreza. O povo. E as idéias. E as mobílias de cabiúna. E as cortinas amarelas. Dom José. Dona Maria. Fogos. Mascaradas. Festas. Nascimentos. Batizados. Palavras que se interpretam nos discursos, nas saúdes . . . Visitas. Sermões de exéquias. Os estudantes que partem. Os doutores que regressam. (Em redor das grandes luzes, há sempre sombras perversas. Sinistros corvos espreitam pelas douradas janelas.) E há mocidade! E há prestígio. E as idéias. As esposas preguiçosas na rede embalando as sestas. Negras de peitos robustos que os claros meninos cevam. Arapongas, papagaios, passarinhos da floresta. Essa lassidão do tempo entre imbaúbas, quaresmas, cana, milho, bananeiras e a brisa que o riacho encrespa. Os rumores familiares que a lenta vida atravessam: elefantíase; partos; sarna; torceduras; quedas; sezões; picadas de cobras; sarampos e erisipelas . . . Candombeiros. Feiticeiros. Ungüentos. Emplastos. Ervas. Senzalas. Tronco. Chibata. Congos. Angolas. Benguelas. Ó imenso tumulto humano! E as idéias. Banquetes. Gamão. Notícias. Livros. Gazetas. Querelas. Alvarás. Decretos. Cartas. A Europa a ferver em guerras. Portugal todo de luto: triste Rainha o governa! Ouro! Ouro! Pedem mais ouro!
E sugestões indiscretas: Tão longe o trono se encontra! Quem no Brasil o tivera! Ah, se Dom José II põe a coroa na testa! Uns poucos de americanos, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra! Washington. Jefferson. Franklin. (Palpita a noite, repleta de fantasmas, de presságios . . .) E as idéias. Doces invenções da Arcádia! Delicada primavera: pastoras, sonetos, liras, — entre as ameaças austeras de mais impostos e taxas que uns protelam e outros negam. Casamentos impossíveis. Calúnias. Sátiras. Essa paixão da mediocridade que na sombra se exaspera. E os versos de asas douradas, que amor trazem e amor levam . . . Anarda. Nise. Marília . . . As verdades e as quimeras. Outras leis, outras pessoas. Novo mundo que começa. Nova raça. Outro destino. Planos de melhores eras. E os inimigos atentos, que, de olhos sinistros, velam. E os aleives. E as denúncias. E as idéias.
Coliseu Cem mil pupilas houve: — cem mil pupilas fitas na arena. Os olhos do Imperador, dos patrícios, dos soldados, da plebe. Os olhos da mulher formosa que os poetas cantaram. E os olhos da fera acossada, do lado oposto. Os olhos que ainda brilham fulvos, agora, na eternidade igual de todos. Cem mil pupilas: — ilustres, insensatas, ferozes, melancólicas, vagas, severas, lânguidas . . . Cem mil pupilas vêem-se, na poeira da pedra deserta. Entre corredores e escadas, o cavo abismo do úmido subsolo exala os soturnos prazeres da antiguidade: Um vozeiro arcaico vem saindo da sombra, — ó duras vozes romanas! — um quente sangue vem golfando, — ó negro sangue das feras! um grande aroma cruel se arredonda nas curvas pedras. — Ó surdo nome trêmulo da morte!
(Não cairão jamais estas paredes, pregadas com este sangue e este rugido, a garra tensa, a goela arqueada em vácuo, as cordas do humano pasmo sobre o último estertor . . .) Cem mil pupilas ficam aqui, pregadas nas pedras do tempo, manchadas de fogo e morte, no fim do dia trágico, depois daquela ávida e acesa coincidência quando convergiram nesta arena de angústia, que hoje é pó e silêncio, esboroada solidão. (As pregas dos vestidos deslizaram, frágeis. E os sorrisos perderam-se, fúteis. Sobre o enorme espetáculo, que foi o aroma dos cosméticos?)
Presença em Pompéia Esta conta não pagarás: — ficará sob uma cinza que não sabes. Sob a cinza que ainda não sabes ficará teu filho por nascer e também os meninos que já sabiam desenhar nos muros. Ficarão os figos que ontem puseste na cesta. Ficarão as pinturas da tua sala e as plantas do teu jardim, de estátuas felizes, sob a cinza que não sabes. Os gladiadores anunciados não lutarão e amanhã não verás, próximo às termas, a mulher que desejavas. Tu ficarás com a chave da tua porta na mão; tu, com o rosto da amada no peito; amo e servo se unirão, no mesmo grito; os cães se debaterão com mordaças de lava; a mão não poderá encontrar a parede; os olhos não poderão ver a rua. As cinzas que não sabes voarão sobre Apolo e Ísis. É uma noite ardente, a que se prepara, enquanto a luz contorna a coluna e o jato d'água: — a luz do sol que afaga pela última vez as roseiras verdes.
Noturno Quem tem coragem de perguntar, na noite imensa? E que valem as árvores, as casas, a chuva, o pequeno transeunte? Que vale o pensamento humano, esforçado e vencido, na turbulência das horas? Que valem a conversa apenas murmurada, a erma ternura, os delicados adeuses? Que valem as pálpebras da tímida esperança, orvalhadas de trêmulo sal? O sangue e a lágrima são pequenos cristais sutis, no profundo diagrama. E o homem tão inutilmente pensante e pensado só tem a tristeza para distingui-lo. Porque havia nas úmidas paragens animais adormecidos, com o mesmo mistério humano: grandes como pórticos, suaves como veludo,
mas sem lembranças históricas, sem compromissos de viver. Grandes animais sem passado, sem antecedentes, puros e límpidos, apenas com o peso do trabalho em seus poderosos flancos e noções de água e de primavera nas tranqüilas narinas e na seda longa das crinas desfraldadas. Mas a noite desmanchava-se no oriente, cheia de flores amarelas e vermelhas. E os cavalos erguiam, entre mil sonhos vacilantes, erguiam no ar a vigorosa cabeça, e começavam a puxar as imensas rodas do dia. Ah! o despertar dos animais no vasto campo! Este sair do sono, este continuar da vida! O caminho que vai das pastagens etéreas da noite ao claro dia da humana vassalagem!
Mapa de anatomia: o olho O Olho é uma espécio de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora. Muitas pinturas: azuis, verdes, amarelas. É um globobrilhante: parece cristal, é como um aquário com plantas finamente desenhadas: algas, sargaços, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. Mas por dentro há outras pinturas, que não se vêem: umas são imagens do mundo, outras são invetadas. O Olho é um teatro por dentro. E às vezes, sejam atores, sejam cenas, e às vezes, sejam imagens, sejam ausências, formam, no Olho, lágrimas.
O mosquito escreve O Mosquito pernilongo trança as pernas, faz um M, depois, treme, treme, treme, faz um O bastante oblongo, faz um S. O mosquito sobe e desce. Com artes que ninguém vê, faz um Q, faz um U e faz um I. Esse mosquito esquisito cruza as patas, faz um T. E aí, se arredonda e faz outro O, mais bonito. Oh! já não é analfabeto, esse inseto, pois sabe escrever o seu nome.
Mas depois vai procurar alguém que possa picar, pois escrever cansa, não é, criança? E ele está com muita fome. (in Ou isto ou aquilo)
O canteiro está molhado O canteiro está molhado. Trarei flores do canteiro, Para cobrir o teu sono. Dorme, dorme, a chuva desce, Molha as flores do canteiro. Noite molhada de chuva, Sem vento, nem ventania, Noite de mar e lembranças..."
É preciso não esquecer nada É preciso não esquecer nada: nem a torneira aberta nem o fogo aceso, nem o sorriso para os infelizes nem a oração de cada instante. É preciso não esquecer de ver a nova borboleta nem o céu de sempre. O que é preciso é esquecer o nosso rosto, o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso. O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos, a idéia de recompensa e de glória. O que é preciso é ser como se já não fôssemos, vigiados pelos próprios olhos severos conosco, pois o resto não nos pertence. (1962)
Mário Quintana Os poemas Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam vôo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti... in: Esconderijos do tempo. Porto Alegre: L&PM,1980.
Espelho Por acaso, surpreendo-me no espelho: Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? (...) Parece meu velho pai - que já morreu! (...) Nosso olhar duro interroga: "O que fizeste de mim?" Eu pai? Tu é que me invadiste. Lentamente, ruga a ruga... Que importa! Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre E os teus planos enfim lá se foram por terra, Mas sei que vi, um dia - a longa, a inútil guerra! Vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste..."
A rua dos cataventos Da vez primeira em que me assassinaram, Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, Foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meu cadáveres eu sou O mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de Vela amarelada, Como único bem que me ficou. Vinde! Corvos, chacais, ladrões de estrada! Pois dessa mão avaramente adunca Não haverão de arracar a luz sagrada! Aves da noite! Asas do horror! Voejai! Que a luz trêmula e triste como um ai, A luz de um morto não se apaga nunca!
Poema da gare de Astapovo O velho Leon Tolstoi fugiu de casa aos oitenta anos E foi morrer na gare de Astapovo! Com certeza sentou-se a um velho banco,
Um desses velhos bancos lustrosos pelo uso Que existem em todas as estaçõezinhas pobres do mundo Contra uma parede nua... Sentou-se ...e sorriu amargamente Pensando que Em toda a sua vida Apenas restava de seu a Gloria, Esse irrisório chocalho cheio de guizos e fitinhas Coloridas Nas mãos esclerosadas de um caduco! E entao a Morte, Ao vê-lo tao sozinho aquela hora Na estação deserta, Julgou que ele estivesse ali a sua espera, Quando apenas sentara para descansar um pouco! A morte chegou na sua antiga locomotiva (Ela sempre chega pontualmente na hora incerta...) Mas talvez não pensou em nada disso, o grande Velho, E quem sabe se ate não morreu feliz: ele fugiu... Ele fugiu de casa... Ele fugiu de casa aos oitenta anos de idade... Não são todos que realizam os velhos sonhos da infância!
Das utopias Se as coisas são inatingíveis... ora! não é motivo para não quere-las... Que tristes os caminhos, se não fora a magica presença das estrelas!
O mapa Olho o mapa da cidade Como quem examinasse A anatomia de um corpo... (E nem que fosse o meu corpo!) Sinto uma dor infinita Das ruas de Porto Alegre Onde jamais passarei... Ha tanta esquina esquisita, Tanta nuança de paredes, Ha tanta moca bonita Nas ruas que não andei (E ha uma rua encantada Que nem em sonhos sonhei...) Quando eu for, um dia desses, Poeira ou folha levada No vento da madrugada, Serei um pouco do nada Invisível, delicioso Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar, Suave mistério amoroso, Cidade de meu andar (Deste já tão longo andar!) E talvez de meu repouso...
Da inquieta esperança Bem sabes Tu, Senhor, que o bem melhor é aquele Que não passa, talvez, de um desejo ilusório. Nunca me dê o Céu... quero é sonhar com ele Na inquietação feliz do Purgatório.
Dos milagres O milagre não é dar vida ao corpo extinto, Ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo... Nem mudar água pura em vinho tinto... Milagre é acreditarem nisso tudo!
Dos nossos males A nós bastem nossos próprios ais, Que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, Os nossos calos doem muito mais...
A verdadeira arte de viajar A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo.\ Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali... Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando! in A cor do invisível
O luar O luar, é a luz do Sol que está sonhando O tempo não pára! A saudade é que faz as coisas pararem no tempo... ...os verdadeiros versos não são para embalar, mas para abalar...
A grande tristeza dos rios é não poderem levar a tua imagem...
Trova Coração que bate-bate... Antes deixes de bater! Só num relógio é que as horas Vão passando sem sofrer.
Tão linda e serena e bela Tão lenta e serena e bela e majestosa [vai passando a vaca Que, se fora na manhã dos tempos, de rosas a coroaria A vaca natural e simples como a primeira canção A vaca, se cantasse, Que cantaria? Nada de óperas, que ela não é dessas, não! Cantaria o gosto dos arroios bebidos de madrugada, Tão diferente do gosto de pedra do meio-dia! Cantaria o cheiro dos trevos machucados. Ou, quando muito, A longa, misteriosa vibração dos alambrados... Mas nada de superaviões, tratores, êmbolos E outros truques mecânicos!
Se eu fosse um padre Se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus nem no Pecado - muito menos no Anjo Rebelado e os encantos das suas seduções, não citaria santos e profetas: nada das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições... Se eu fosse um padre eu citaria os poetas, Rezaria seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram e quem me dera que alguns fossem meus! Porque a poesia purifica a alma ... a um belo poema - ainda que de Deus se aparte um belo poema sempre leva a Deus!
Bilhete Se tu me amas, ama-me baixinho Não o grites de cima dos telhados Deixa em paz os passarinhos Deixa em paz a mim! Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, Amada, que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...
Canção da garoa Em cima do telhado Pirulin lulin lulin, Um anjo, todo molhado, Soluça no seu flautim. O relógio vai bater: As molas rangem sem fim. O retrato na parede Fica olhando para mim. E chove sem saber porquê E tudo foi sempre assim! Parece que vou sofrer: Pirulin lulin lulin...
Ritmo Na porta a varredeira varre o cisco varre o cisco varre o cisco Na pia a menininha escova os dentes escova os dentes escova os dentes No arroio a lavadeira bate roupa bate roupa bate roupa até que enfim se desenrola a corda toda e o mundo gira imóvel como um pião!
Carlos Drummond de Andrade Receita de ano novo Para você ganhar belíssimo Ano Novo cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido (mal vivido talvez ou sem sentido) para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; novo até no coração das coisas menos percebidas (a começar pelo seu interior) novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha, você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens (planta recebe mensagens? passa telegramas?) Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas nem parvamente acreditar que por decreto de esperança a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.
Não passou Passou? Minúsculas eternidades deglutidas por mínimos relógios ressoam na mente cavernosa. Não, ninguém morreu, ninguém foi infeliz. A mão- a tua mão, nossas mãosrugosas, têm o antigo calor de quando éramos vivos. Éramos? Hoje somos mais vivos do que nunca. Mentira, estarmos sós.
Nada, que eu sinta, passa realmente. É tudo ilusão de ter passado.
Acordar, viver Como acordar sem sofrimento? Recomeçar sem horror? O sono transportou-me àquele reino onde não existe vida e eu quedo inerte sem paixão. Como repetir, dia seguinte após dia seguinte, a fábula inconclusa, suportar a semelhança das coisas ásperas de amanhã com as coisas ásperas de hoje? Como proteger-me das feridas que rasga em mim o acontecimento, qualquer acontecimento que lembra a Terra e sua púrpura demente? E mais aquela ferida que me inflijo a cada hora, algoz do inocente que não sou? Ninguém responde, a vida é pétrea.
A um ausente Tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto. Detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos de obscuridade sem prazo sem consulta sem provocação até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza nem nos deixaste sequer o direito de indagar porque o fizeste, porque te foste.
Hino nacional Precisamos descobrir o Brasil! Escondido atrás as florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito louras, de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas para garçonetes dos restaurantes noturnos. E virão sírias fidelíssimas. Não convém desprezar as japonesas... Precisamos educar o Brasil. Compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas. E cuidaremos do Estado Técnico. Precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras; nossos erros também. E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões... os Amazonas inenarráveis... os incríveis João-Pessoas... Precisamos adorar o Brasil! Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Precisamos, precisamos esquecer o Brasil! Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer! Está farto de nós! Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Eduardo Alves da Costa Quanto a mim, sonharei com Portugal Às vezes, quando estou triste e há silêncio nos corredores e nas veias, vem-me um desejo de voltar a Portugal. Nunca lá estive, é certo, como também é certo meu coração, em dias tais, ser um deserto.
Poema que aconteceu Nenhum desejo neste domingo nenhum problema nesta vida o mundo parou de repente os homens ficaram calados domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo mas é possível que se soubesse nem ligasse.
Poesia Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira.
Poema de sete faces Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos , raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus se sabias que eu era fraco. Mundo mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer
mas essa lua mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo.
Itabira Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê Na cidade toda de ferro as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola. Os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só, na porta da venda, Tutu caramujo cisma na derrota incomparável.
No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra.
Poema do jornal O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher. A mulher ensangüentada grita. Ladrões arrombam o cofre. A polícia dissolve o meeting. A pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica.
Quadrilha João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.
Poema da purificação Depois de tantos combates o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As água ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo, e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
José E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? e agora, Você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, Você que faz versos, que ama, proptesta? e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou, e agora, José? E agora, José? sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, - e agora?
Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta; quer morrer no mar, mas o mar secou; quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse, se você consasse, se você morresse.... Mas você não morre, você é duro, José! Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope, você marcha, José! José, para onde?
O mundo é grande O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.
Mãos dadas Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Diante das fotos de Evandro Teixeira
A pessoa, o lugar, o objeto estão espostos e escondidos ao mesmo tempo so a luz, e dois olhos não ão bastantes para captar o que se oculta no rápido florir de um gesto. É preciso que a lente mágica enriqueça a visão humana e do real de cada coisa um mais seco real extraia para que penetremos fundo no puro enigma das figuras. Fotografia - é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo, edifica uma penanência, cristal do tempo no papel. Das luas de rua no Rio em 68, que nos resta mais positivo, mais queimante do que as fotos acusadoras, tão vivas hoje como então, a lembrar como a exorcizar? Marcas de enchente e do despejo, o cadáver inseputável, o colchão atirado ao vento, a lodosa, podre favela, o mendigo de Nova York a moça em flor no Jóquei Clube, Garrincha e nureyev, dança de dois destinos, mães-de-santo na praia-templo de Ipanema, a dama estranha de Ouro Preto, a dor da América Latina, mitos não são, pois são fotos. Fotografia: arma de amor, de justiça e conhecimento, pelas sete partes do mundo a viajar, a surpreender a tormentosa vida do homem e a esperança a brotar das cinzas.
O que Alécio vê A voz lhe disse ( uma secreta voz): - Vai, Alécio, ver. Vê e reflete o visto, e todos captem por seu olhar o sentimento das formas que é o sentimento primeiro - e último - da vida. E Alécio vai e vê o natural das coisas e das gentes, o dia, em sua novidade não sabida,
a inaugurar-se todas as manhãs, o cão, o parque, o traço da passagem das pessoas na rua, o idílio jamais extinto sob as ideologias, a graça umbilical do nu feminino, conversas de café, imagens de que a vida flui como o Sena ou o São Francisco para depositar-se numa folha sobre a pedra do cais ou para sorrir nas telas clássicas de museu que se sabem contempladas pela tímida (ou arrogante) desinformação das visitas, ou ainda para dispersar-se e concentrar-se no jogo eterno das crianças. Ai, as crianças... Para elas, há um mirante iluminado no olhar de Alécio e sua objetiva. (Mas a melhor objetiva não serão os olhos líricos de Alécio?) Tudo se resume numa fonte e nas três menininhas peladas que a contemplam, soberba, risonha, puríssima foto-escultura de Alécio de Andrade, hino matinal à criação e a continuação do mundo em esperança.
A bomba A bomba é uma flor de pânico apavorando os floricultores A bomba é o produto quintessente de um laboratório falido A bomba é estúpida é ferotriste é cheia de rocamboles A bomba é grotesca de tão metuenda e coça a perna A bomba dorme no domingo até que os morcegos esvoacem A bomba não tem preço não tem lugar não tem domicílio A bomba amanhã promete ser melhorzinha mas esquece A bomba não está no fundo do cofre, está principalmente onde não está A bomba mente e sorri sem dente A bomba vai a todas as conferências e senta-se de todos os lados A bomba é redonda que nem mesa redonda, e quadrada A bomba tem horas que sente falta de outra para cruzar A bomba multiplica-se em ações ao portador e portadores sem ação A bomba chora nas noites de chuva, enrodilha-se nas chaminés A bomba faz week-end na Semana Santa A bomba tem 50 megatons de algidez por 85 de ignomínia
A bomba industrializou as térmites convertendo-as em balísticos interplanetários A bomba sofre de hérnia estranguladora, de amnésia, de mononucleose, de verborréia A bomba não é séria, é conspicuamente tediosa A bomba envenena as crianças antes que comece a nascer A bomba continua a envenená-las no curso da vida A bomba respeita os poderes espirituais, os temporais e os tais A bomba pula de um lado para outro gritando: eu sou a bomba A bomba é um cisco no olho da vida, e não sai A bomba é uma inflamação no ventre da primavera A bomba tem a seu serviço música estereofônica e mil valetes de ouro, cobalto e ferro além da comparsaria A bomba tem supermercado circo biblioteca esquadrilha de mísseis, etc. A bomba não admite que ninguém acorde sem motivo grave A bomba quer é manter acordados nervosos e sãos, atletas e paralíticos A bomba mata só de pensarem que vem aí para matar A bomba dobra todas as línguas à sua turva sintaxe A bomba saboreia a morte com marshmallow A bomba arrota impostura e prosopéia política A bomba cria leopardos no quintal, eventualmente no living A bomba é podre A bomba gostaria de ter remorso para justificar-se mas isso lhe é vedado A bomba pediu ao Diabo que a batizasse e a Deus que lhe validasse o batismo A bomba declare-se balança de justiça arca de amor arcanjo de fraternidade A bomba tem um clube fechadíssimo A bomba pondera com olho neocrítico o Prêmio Nobel A bomba é russamenricanenglish mas agradam-lhe eflúvios de Paris A bomba oferece de bandeja de urânio puro, a título de bonificação, átomos de paz A bomba não terá trabalho com as artes visuais, concretas ou tachistas A bomba desenha sinais de trânsito ultreletrônicos para proteger velhos e criancinhas
A bomba não admite que ninguém se dê ao luxo de morrer de câncer A bomba é câncer A bomba vai à Lua, assovia e volta A bomba reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia A bomba está abusando da glória de ser bomba A bomba não sabe quando, onde e porque vai explodir, mas preliba o instante inefável A bomba fede A bomba é vigiada por sentinelas pávidas em torreões de cartolina A bomba com ser uma besta confusa dá tempo ao homem para que se salve A bomba não destruirá a vida O homem (tenho esperança) liquidará a bomba.
As sem-razões do amor Eu te amo porque te amo, Não precisas ser amante, e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem (e matam) a cada instante de amor.
Murilo Mendes Reflexão n°.1 Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus de onde tudo deriva E a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo Nascer é muito comprido.
Gilda Não ponha o nome de Gilda na sua filha, coitada, Se tem filha pra nascer Ou filha pra batisar. Minha mãe se chama Gilda, Não se casou com meu pai. Sempre lhe sobra desgraça, Não tem tempo de escolher. Também eu me chamo Gilda, E, pra dizer a verdade Sou pouco mais infeliz. Sou menos do que mulher, Sou uma mulher qualquer. Ando à-toa pelo mundo. Sem força pra me matar. Minha filha é também Gilda, Pro costume não perder É casada com o espelho E amigada com o José. Qualquer dia Gilda foge Ou se mata em Paquetá Com José ou sem José. Já comprei lenço de renda Pra chorar com mais apuro E aos jornais telefonei. Se Gilda enfim não morrer, Se Gilda tiver uma filha Não põe o nome de Gilda, Na menina, que não deixo. Quem ganha o nome de Gilda Vira Gilda sem querer. Não ponha o nome de Gilda No corpo de uma mulher.
O utopista Ele acredita que o chão é duro Que todos os homens estão presos Que há limites para a poesia Que não há sorrisos nas crianças Nem amor nas mulheres
Que só de pão vive o homem Que não há um outro mundo.
A mãe do primeiro filho Carmem fica matutando no seu corpo já passado. — Até à volta, meu seio De mil novecentos e doze. Adeus, minha perna linda De mil novecentos e quinze. Quando eu estava no colégio Meu corpo era bem diferente. Quando acabei o namoro Meu corpo era bem diferente. Quando um dia me casei Meu corpo era bem diferente. Nunca mais eu hei de ver Meus quadris do ano passado... A tarde já madurou E Carmem fica pensando.
O filho do século Nunca mais andarei de bicicleta Nem conversarei no portão Com meninas de cabelos cacheados Adeus valsa "Danúbio Azul" Adeus tardes preguiçosas Adeus cheiros do mundo sambas Adeus puro amor Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem Não tenho forças para gritar um grande grito Cairei no chão do século vinte Aguardem-me lá fora As multidões famintas justiceiras Sujeitos com gases venenosos É a hora das barricadas É a hora da fuzilamento, da raiva maior Os vivos pedem vingança Os mortos minerais vegetais pedem vingança É a hora do protesto geral É a hora dos vôos destruidores É a hora das barricadas, dos fuzilamentos Fomes desejos ânsias sonhos perdidos, Misérias de todos os países uni-vos Fogem a galope os anjos-aviões Carregando o cálice da esperança Tempo espaço firmes porque me abandonastes.
Cantiga de Malazarte Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo, ando debaixo da pele e sacudo os sonhos. Não desprezo nada que tenha visto,
todas as coisas se gravam pra sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos, destelho as casas penduradas na terra, tiro os cheiros dos corpos das meninas sonhando. Desloco as consciências, a rua estala com os meus passos, e ando nos quatro cantos da vida. Consolo o herói vagabundo, glorifico o soldado vencido, não posso amar ninguém porque sou o amor, tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste à Criação e que bole em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo. Nada me fixa nos caminhos do mundo.
Modinha do empregado de banco Eu sou triste como um prático de farmácia, sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher mas só ouço o tectec das máquinas de escrever. Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda. Quantas meninas pela vida afora! E eu alinhando no papel as fortunas dos outros. Se eu tivesse estes contos punha a andar a roda da imaginação nos caminhos do mundo. E os fregueses do Banco que não fazem nada com estes contos! Chocam outros contos para não fazerem nada com eles. Também se o diretor tivesse a minha imaginação o Banco já não existiria mais e eu estaria noutro lugar.
Pré-história Mamãe vestida de rendas Tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas Cansada de tanto som, Equilibrou-se no azul, De tonta não mais olhou Para mim, para ninguém! Cai no álbum de retratos.
A tesoura de Toledo Com seus elementos de Europa e África, Seu corte, inscrição e esmalte, A tesoura de Toledo Alude às duas Espanhas. Duas folhas que se encaixam, Se abrem, se desajustam, Medem as garras afiadas: Finura e rudeza de Espanha,
Rigor atento ao real, Silêncio espreitante, feroz, Silêncio de metal agindo, Aguda obstinação Em situar o concreto, Em abrir e fechar o espaço, Talhando simultaneamente Europa e África, Vida e morte.
Canção do exílio Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas nossas frutas mais gostosas mas custam cem mil réis a dúzia. Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade!
Canto a García Lorca Não basta o sopro do vento Nas oliveiras desertas, O lamento de água oculta Nos pátios da Andaluzia. Trago-te o canto poroso, O lamento consciente Da palavra à outra palavra Que fundaste com rigor. O lamento substantivo Sem ponto de exclamação: Diverso do rito antigo, Une a aridez ao fervor, Recordando que soubeste Defrontar a morte seca Vinda no gume certeiro Da espada silenciosa Fazendo irromper o jacto De vermelho: cor do mito Criado com a força humana Em que sonho e realidade Ajustam seu contraponto.
Consolo-me da tua morte. Que ela nos elucidou Tua linguagem corporal Onde el duende é alimentado Pelo sal da inteligência, Onde Espanha é calculada Em número, peso e medida.
Cartão postal Domingo no jardim público pensativo. Consciências corando ao sol nos bancos, bebês arquivados em carrinhos alemães esperam pacientemente o dia em que poderão ler o Guarani. Passam braços e seios com um jeitão que se Lenine visse não fazia o Soviete. Marinheiros americanos bêbedos fazem pipi na estátua de Barroso, portugueses de bigode e corrente de relógio abocanham mulatas. O sol afunda-se no ocaso como a cabeça daquela menina sardenta na almofada de ramagens bordadas por Dona Cocota Pereira.
Corte transversal do poema A música do espaço pára, a noite se divide em dois pedaços. Uma menina grande, morena, que andava na minha cabeça, fica com um braço de fora. Alguém anda a construir uma escada pros meus sonhos. Um anjo cinzento bate as asas em torno da lâmpada. Meu pensamento desloca uma perna, o ouvido esquerdo do céu não ouve a queixa dos namorados. Eu sou o olho dum marinheiro morto na Índia, um olho andando, com duas pernas. O sexo da vizinha espera a noite se dilatar, a força do homem. A outra metade da noite foge do mundo, empinando os seios. Só tenho o outro lado da energia, me dissolvem no tempo que virá, não me lembro mais quem sou.
Elegia de Taormina A dupla profundidade do azul Sonda o limite dos jardins E descendo até à terra o transpõe. Ao horizonte da mão ter o Etna Considerado das ruínas do templo grego, Descansa. Ninguém recebe conscientemente O carisma do azul. Ninguém esgota o azul e seus enigmas.
Armados pela história, pelo século, Aguardando o desenlace do azul, o desfecho da bomba, Nunca mais distinguiremos Beleza e morte limítrofes. Nem mesmo debruçados sobre o mar de Taormina. Ó intolerável beleza, Ó pérfido diamante, Ninguém, depois da iniciação, dura No teu centro de luzes contrárias. Sob o signo trágico vivemos, Mesmo quando na alegria O pão e o vinho se levantam. Ó intolerável beleza Que sem a morte se oculta.
Grafito numa cadeira Cadeira operada dos braços Fundamental que nem osso Não poltrona com pés de metal Knoll Ou projetada por um sub-Moholy Nagy Com nota didascálica Antes cadeira no duro Cadeira de madeira Anônima Inânime Unânime Cadeira quadrúpede Não aguardas Nenhuma "iluminação" particular Nem assento e clavícula de nenhuma deusa Que te percutisse — gong — Nem de nenhum Van Gogh Que súbito te tornasse Eterna Roma, 1964
Grafito para Ipólita 1 A tarde consumada, Ipólita desponta. Ipólita, a putain do fim da infância. Nascera em Juiz de Fora, a família em Ferrara. Seus passos feminantes fundam o timbre. Marcha, parece, ao som do gramofone.
A cabeleira-púbis, perturbante. Os dedos prolongados em estiletes. Os lábios escandindo a marselhesa Do sexo. Os dentes mordem a matéria. O olho meduseu sacode o espaço. O corpo transmitindo e recebendo O desejo o chacal a praga o solferino. Pudesse eu decifrar sua íntima praça! Expulsa o sol-e-dó, a professora, o ícone Só de vê-la passar, meu sangue inobre Desata as rédeas ao cavalo interno. 2 Quando tarde a revejo, rio usado, Já a morte lhe prepara a ferramenta. Deixa o teatro, a matéria fecal. Pudesse eu libertar seu corpo (Minha cruzada!) Quem sabe, agora redescobre o viso Da sua primeira estrela, esquartejada. 3 Por ela meus sentidos progrediram. Por ela fui voyeur antes do tempo. 4 O dia emagreceu. Ipólita desponta. Roma 1965
Guernica Subsiste, Guernica, o exemplo macho, Subsiste para sempre a honra castiça, A jovem e antiga tradição do carvalho Que descerra o pálio de diamante. A força do teu coração desencadeado Contactou os subterrâneos de Espanha. E o mundo da lucidez a recebeu: O ar voa incorporando-se teu nome.
Homenagem a Oswaldo Goeldi Oswaldo gravas: A ti mesmo fiel, ao teu ofício, Gravas a pobreza, o vento, a dissonância, A rude comunhão dos homens no trabalho. Gravas o abandonado, o triste, o único,
O peixe que te mira quase humano — É hora de morrer — No preto e branco, no vermelho e verde. Qualquer traço perdido, A casa que espia pelo olho-de-boi Testemunha de drama anônimo. Gravas a nuvem, o balaio, O geleiro e seus estilhaços. O choque em diagonal de guarda-chuvas, Tudo o que é rejeitado, elementos marginais, A metade dum astro que se despe Amado só do penúltimo vadio. Oswaldo gravas, Gravas qualquer solidão. Os peixeiros que partilham peixe e onda, Pássaros de solidões de água e mato, O sinaleiro do temporal próximo, A barca puxada pela sirga, O bêbedo e seu solilóquio, A chuva e seus túneis, O mergulho em tesoura da gaivota. És do sol posto, da esquina, Do Leblon e do uivo da noite. Não sujeitas o desenho à gravação: Liberaste as duas forças. Atingindo agora a unidade, Pela natureza visionária E pelo severo ofício A tortura dominando, Silêncio e solidão Oswaldo gravas.
Joan Miró Soltas a sigla, o pássaro, o losango. Também sabes deixar em liberdade O roxo, qualquer azul e o vermelho. Todas as cores podem aproximar-se Quando um menino as conduz no sol E cria a fosforescência: A ordem que se desintegra Forma outra ordem ajuntada Ao real — este obscuro mito.
Murilo menino Eu quero montar o vento em pêlo, Força do céu, cavalo poderoso Que viaja quando entende, noite e dia. Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta, Quero que o preto velho Isidoro Dê um concerto com minhas primas ao piano, Lá no salão azul da baronesa. Quero conhecer a mãe-d'água Que no claro do rio penteia os cabelos Com um pente de sete cores.
Salve salve minha rainha, Ó clemente ó piedosa ó doce Virgem Maria, ? Como pode uma rainha ser também advogada.
Murilograma a Graciliano Ramos 1 Brabo. Olhofaca. Difícil. Cacto já se humanizando, Deriva de um solo sáfaro Que não junta, antes retira, Desacontece, desquer. 2 Funda o estilo à sua imagem: Na tábua seca do livro Nenhuma voluta inútil. Rejeita qualquer lirismo. Tachando a flor de feroz. 3 Tem desejos amarelos. Quer amar, o sol ulula, Leva o homem do deserto (Graciliano-Fabiano) Ao limite irrespirável. 4 Em dimensão de grandeza Onde o conforto é vacante, Seu passo trágico escreve A épica real do BR Que desintegrado explode. Roma, 1963
Noite carioca Noite da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro tão gostosa. que os estadistas europeus lamentam ter conhecido tão tarde. Casais grudados nos portões de jasmineiros... A baía de Guanabara, diferente das outras baías, é camarada, recebe na sala de visita todos os navios do mundo e não fecha a cara. Tudo perde o equilíbrio nesta noite,
as estrelas não são mais constelações célebres, são lamparinas com ares domingueiros, as sonatas de Beethoven realejadas nos pianos dos bairros distintos não são mais obras importantes do gênio imortal, são valsas arrebentadas... Perfume vira cheiro, as mulatas de brutas ancas dançam o maxixe nos criouléus suarentos O Pão de Açúcar é um cão de fila todo especial que nunca se lembra de latir pros inimigos que transpõem a barra e às 10 horas apaga os olhos pra dormir.
O fósforo Acendendo um fósforo acendo Prometeu, o futuro, a liquidação dos falsos deuses, o trabalho do homem. o O fósforo: tão rabbioso quanto secreto. Furioso, delicado. Encolhe-se no seu casulo marrom; mas quando chamado e provocado, polêmico estoura, esclarecendo tudo. O século é polêmico. o O gás não funciona hoje. Temos greve dos gasistas. A Itália tornou-se a Grevelândia. Mas preferimos essa semi-anarquia à "ordem" fascista. O fósforo, hoje em férias, espera paciente no seu casulo o dia de amanhã desprovido de greves. O dia racional, o dia do entendimento universal, o dia do mundo sem classes, o dia de Prometeu totalizado. o O fósforo é o portador mais antigo da tradição viva. Eu sou pela tradição viva, capaz de acompanhar a correnteza da modernidade. Que riquezas poderosas extraio dela! Subscrevo a grande palavra de Jaures: "De l'autel des ancêtres on doit garder non les cendres mais le feu."
Perspectiva da sala da jantar A filha do modesto funcionário público dá um bruto interesse à natureza-morta da sala pobre no subúrbio. O vestido amarelo de organdi distribui cheiros apetitosos de carne morena saindo do banho com sabonete barato. O ambiente parado esperava mesmo aquela vibração: papel ordinário representando florestas com tigres, uma Ceia onde os personagens não comem nada a mesa com a toalha furada a folhinha que a dona da casa segue o conselho e o piano que eles não têm sala de visitas. A menina olha longamente pro corpo dela como se ele hoje estivesse diferente, depois senta-se ao piano comprado a prestações e o cachorro malandro do vizinho
toma nota dos sons com atenção.
Saudação a Ismael Nery Acima dos cubos verdes e das esferas azuis um Ente magnético sopra o espírito da vida. Depois de fixar os contornos dos corpos transpõe a região que nasceu sob o signo do amor e reúne num abraço as partes desconhecidas do mundo. Apelo dos ritmos movendo as figuras humanas, solicitação das matérias do sonho, espírito que nunca descansa. Ele pensa desligado do tempo, as formas futuras dormem nos seus olhos. Recebe diretamente do Espírito a visão instantânea das coisas, ó vertigem! penetra o sentido das idéias, das cores, a tonalidade da Criação, olho do mundo, zona livre de corrupção, música que não pára nunca, forma e transparência.
São Francisco de Assis de Ouro Preto Solta, suspensa no espaço, Clara vitória da forma E de humana geometria Inventando um molde abstrato; Ao mesmo tempo, segura, Recriada na razão, Em número, peso, medida; Balanço de reta e curva, Levanta a alma, ligeira, À sua Pátria natal; Repouso da cruz cansada, Signo de alta brancura; Gerado, em recorte novo, Por um bicho rastejante, Mestiço de sombra e luz; Aposento da Trindade E mais da Virgem Maria Que se conhecem no amor; Traslado, em pedra vivente, Do afeto de um sumo herói Que junta o braço do Cristo Ao do homem seu igual.
Texto de consulta 1 A página branca indicará o discurso Ou a supressão o discurso? A página branca aumenta a coisa Ou ainda diminui o mínimo? O poema é o texto? O poeta? O poema é o texto + o poeta? O poema é o poeta - o texto?
A Lúcio Costa
O texto é o contexto do poeta Ou o poeta o contexto do texto? O texto visível é o texto total O antetexto o antitexto Ou as ruínas do texto? O texto abole Cria Ou restaura? 2 O texto deriva do operador do texto Ou da coletividade — texto? O texto é manipulado Pelo operador (ótico) Pelo operador (cirurgião) Ou pelo ótico-cirurgião? O texto é dado Ou dador? O texto é objeto concreto Abstrato Ou concretoabstrato? O texto quando escreve Escreve Ou foi escrito Reescrito? O texto será reescrito Pelo tipógrafo / o leitor / o crítico; Pela roda do tempo? Sofre o operador: O tipógrafo trunca o texto. Melhor mandar à oficina O texto já truncado. (..........) 6 A palavra cria o real? O real cria a palavra? Mais difícil de aferrar: Realidade ou alucinação? Ou será a realidade Um conjunto de alucinações? 7 Existe um texto regional / nacional Ou todo texto é universal? Que relação do texto Com os dedos? Com os textos alheios?
(..........) 9 Juízo final do texto: Serei julgado pela palavra Do dador da palavra / do sopro / da chama. O texto-coisa me espia Com o olho de outrem. Talvez me condene ao ergástulo. O juízo final Começa em mim Nos lindes da Minha palavra. Roma, 1965
O mau samaritano Quantas vezes tenho passado perto de um doente, Perto de um louco, de um triste, de um miserável, Sem lhes dar uma palavra de consolo. Eu bem sei que minha vida é ligada à dos outros, Que outros precisam de mim que preciso de Deus Quantas criaturas terão esperado de mim Apenas um olhar – que eu recusei.
Somos todos poetas Assisto em mim a um desdobrar de planos. as mãos vêem, os olhos ouvem, o cérebro se move, A luz desce das origens através dos tempos E caminha desde já Na frente dos meus sucessores. Companheiro, Eu sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. Sou todos e sou um, Sou responsável pela lepra do leproso e pela órbita vazia do cego, Pelos gritos isolados que não entraram no coro. Sou responsável pelas auroras que não se levantam E pela angústia que cresce dia a dia.
A tentação Diante do crucifixo Eu paro pálido tremendo “ Já que és o verdadeiro filho de Deus Desprega a humanidade desta cruz”.
Vermeer de Delft É a manhã no copo:
Tempo de decifrar o mapa Com seus amarelos e azuis, De abrir as cortinas - o sol frio nasce Nos ladrilhos silenciosos -, De ler uma carta perturbadora Que veio pela galera da China: Até que a lição do cravo Através dos seus cristais Restitui a inocência.
As lavadeiras As lavadeiras no tanque noturno Não responderam ao canto da sibila. “Lavamos os mortos, Lavamos o tabuleiro das idéias antigas E os balaústres para repouso do mar... Nele encontramos restos de galeras, Quem nos desviará do nosso canto obscuro? Nele descobrimos o augusto pudor do vento, O balanço do corpo do pirata com argolas, Nele promovemos a sede do povo E excitamos a nossa própria sede...” As lavadeiras no tanque branco Lavam o espectro da guerra. Os braços das lavadeiras No abismo noturno Vão e vêm.
Montanhas de Ouro Preto Desdobram-se as montanhas de Ouro Preto Na perfurada luz, em plano austero. Montes contempladores, circunscritos, Entre cinza e castanho, o olhar domado Recolhe vosso espectro permanente. Por igual pascentais a luz difusa Que se reajusta ao corpo das igrejas, E volve o pensamento à descoberta De uma luta antiqüíssima com o caos, De uma reinvenção dos elementos Pela força de um culto ora perdido, Relíquias de dureza e de doutrina, Rude apetite dessa cousa eterna Retida na estrutura de Ouro Preto.
Ao Aleijadinho Pálida a lua sob o pálio avança Das estrelas de uma perdida infância. Fatigados caminhos refazemos Da outrora máquina da mineração.
A Lourival Gomes Machado
É nossa própria forma, o frio molde Que maduros tentamos atingir, Volvendo à laje, à pedra de olhos facetados, Sem crispação, matéria já domada, O exemplo recebendo que ofereces Pelo martírio teu enfim transposto, Severo, machucado e rude Aleijadinho Que te encerras na tenda com tua Bíblia, Suplicando ao Senhor – infinito e esculpido – Que sobre ti descanse os seus divinos pés.
Murilograma para Mallarmé No oblíquo exílio que te aplaca Manténs o báculo da palavra Signo especioso do Livro Inabolível teu & da tribo A qual designas, idêntica Vitoriosamente à semântica Os dados lançando súbito Já tu indígete em decúbito Na incólume glória te assume MALLARMÉ sibilino nome
Henriqueta Lisboa Vem, doce morte Vem, doce morte. Quando queiras. Ao crepúsculo, no instante em que as nuvens desfilam pálidos casulos e o suspiro das árvores - secreto não é senão prenúncio de um delicado acontecimento. Quanto queiras. Ao meio-dia, súbito espetáculo deslumbrante e inédito de rubros panoramas abertos ao sol, ao mar, aos montes, às planícies com celeiros refertos e intocados. Quando queiras. Presentes as estrelas ou já esquivas, na madrugada com pássaros despertos, à hora em que os campos recolhem as sementes e os cristais endurecem de frio. Tenho o corpo tão leve (quando queiras) que a teu primeiro sopro cederei distraída como um pensamento cortado pela visão da lua em que acaso - mais alto - refloresça.
É estranho É estranho que, após o pranto vertido em rios sobre os mares, venha pousar-te no ombro o pássaro das ilhas, ó náufrago. É estranho que, depois das trevas semeadas por sobre as valas, teus sentidos se adelgacem diante das clareiras, ó cego. É estranho que, depois de morto, rompidos os esteios da alma e descaminhado o corpo, homem, tenhas reino mais alto. in Flor da Morte
De súbito cessou a vida De súbito cessou a vida. Foram simples palavras breves. Tudo continuou como estava. O mesmo teto, o mesmo vento, o mesmo espaço, os mesmos gestos, Porém como que eternizados. Unção, calor, surpresa, risos
tudo eram chapas fotográficas há muito tempo reveladas. Todas as cousas tinham sido e se mantinham sem reserva numa sucessão automática. Passos caminhavam no assoalho, talheres batiam nos dentes, janelas se abriam, fechavam. Vinham noites e vinham luas, madrugadas com sino e chuva. Sapatos iam na enxurrada. Meninas chegavam gritando. Nasciam flores de esmeralda no asfalto! mas sem esperança. Jornais prometiam com zelo em grandes tópicos vermelhos o fim de uma guerra. Guerra?... Os que não sabiam falavam. Quem não sentia tinha o pranto. (O pranto era ainda o recurso de velhas cousas coniventes.) Nem o menor sinal de vida. Tão-só no fundo espelho a face lívida, a face lívida. in: A Face Lívida (1945)
Esse despojamento Esse despojamento esse amargo esplendor. Beleza em sombra sacrifício incruento. A mão sem jóias descarnada na pureza das veias. A voz por um fio desnuda na palavra sem gesto. O escuro em torno e a lucidez violenta lucidez terrível batida de encontro ao rosto como uma ofensa física. Na imensidade sem pouso, olhos duros de pássaro. in:
A Face Lívida (1945)
Lábios que não se abrem, lábios Lábios que não se abrem, lábios com seu segredo calado Segredo no ermo da noite resiste à rosa dos ventos calado. Flauta sem a vibração do sopro. Luar e espelho, frente a frente, em calada vigília. Fria espada unida ao corpo. Resto de lágrimas sobre lábios calados. Borboleta da morte em sorvo pousada à flor dos lábios calados calados. A Face Lívida (1945)
Não a face dos mortos. Não a face dos mortos. Nem a face dos que não coram aos açoites da vida. Porém a face lívida dos que resistem pelo espanto. Não a face da madrugada na exaustão dos soluços. Mas a face do lago sem reflexos quando as águas entranha. Não a face da estátua fria de lua e zéfiro. Mas a face do círio que se consome lívida no ardor. A Face Lívida (1945)
A menina selvagem
Para Ângela Maria
A menina selvagem veio da aurora acompanhada de pássaros, estrelas-marinhas e seixos. Traz uma tinta de magnólia escorrida nas faces. Seus cabelos, molhados de orvalho e tocados de musgo, cascateiam brincando com o vento. A menina selvagem carrega punhados de renda, sacode soltas espumas. Alimenta peixes ariscos e renitentes papagaios. E há de relance, no seu riso, gume de aço e polpa de amora. Reis Magos, é tempo! Oferecei bosques, várzeas e campos à menina selvagem: ela veio atrás das libélulas. Lírica (1958)
Assim é o medo Assim é o medo: cinza Verde. Olhos de lince. Voz sem timbre Torvo e morno Melindre. Da sombra espreita à espera de algo que o alente. Não age: tenta porém recua a qualquer bulha. No campo assiste junto ao títere à cruz que esparze vivo gazeio de nervosismo com vidro moído grácil granizo de pássaros. E que rascante violino brusco não arrepia ao longo o azul dos meus veludos se, a noite em meio cá no fundo quarto escuro, a lua arrisca
numa oblíqua o olhar morteiro. Dentro da jaula (mundo inapto) do domador em fúria à fera subsinuosamente resvala. Aos frios reptos do ziguezague em choque, súbito relampagueio, as duas forças se opõem dúbias se atraem foscas para a luta pelo avesso: despiste e fuga ouro e vermelho desde a entranha. As duas forças antagônicas: qual delas ganha acaso ou perde o medo frente a frente ao medo? Além da Imagem (1963)
Assombro Século de assombro - este século. De violência em progresso. E os outros séculos? Cada ser ao sentir o peso do mundo não terá dito: século de assombro? O assombro seca a própria sombra de tanto secar existência: Sequidão de corações e mentes Secura de corpo nos ossos Legião de cegos e de inaptos Asfixia de túneis e masmorras Mantos e esgares de hipocrisia Sevícia para fins de anuência Acúmulo de monstros e monturos — Assombro à cunha. Porém acima de qualquer assombro aquele assombro vindo de antanho para atravessar o século de ponto a ponta — flecha escusa — e ser perene assombro dos mortais — a morte. Pousada do Ser (1982)
Caboclo - d'água Caboclo-d'água Ô caboclo-d'água. Caboclo-d'água vem de noite — assombração. Caboclo-d'água molengão tocando viola. Caboclo-d'água vá-se embora vá-se embora caboclo-d'àgua não me chame não! A chuva é muita sobe o rio no barranco. O vento chora mais que reza uma oração. Acende a vela minha gente, eu tenho medo. Eu tenho medo de afogar na escuridão. O Menino Poeta (1943)
Calendário Calada floração fictícia caindo da árvore dos dias Reverberações (1976)
Ciranda de mariposas Vamos todos cirandar ciranda de mariposas. Mariposas na vidraça são jóias, são brincos de ouro. Ai! poeira de ouro translúcida bailando em torno da lâmpada. Ai! fulgurantes espelhos refletindo asas que dançam. Estrelas são mariposas (faz tanto frio na rua!) batem asas de esperança contra as vidraças da lua. Menino Poeta (1943)
Denúncia
Os tresloucados do volante — ó vendaval — voam velozes e ferozes à caça de carne humana. Olhos de abutre fisgam de rua em rua alguma oferta de acaso. Rindo brancura de dentes mil poderes aceleram rumo à vítima entrevista. O mundo que lhes pertence tomam ao revés — de assalto. Sangram despedaçam matam E ombros erguidos prosseguem vitoriosos pressurosos para os aplausos da seita. Pousada do Ser (1982)
Depois da opção Um reposteiro o mais espesso caia sobre a tragédia dos Andes. Os que a viveram não falem. A língua que provou a carne de seus irmãos emudeça da mais humana miséria para não se desnaturar em sem remédio depois da opção Em estátuas de pedra se transformem os seres que amargaram a ponto de negação a si mesmo imprensados entre o vulcão de sangue e a geleira: fantasmas caminhando brancas nódoas negras hóstias em travo depois da opção. A dor de quem viu palpou compreendeu e perdoou o que a si próprio não se perdoaria é covardia. Heróica é a dor dos que sofrem não pela fome ou sede ou frio ou cegueira que sofreram mas pela crua memória do jamais deglutido nos desvãos ruminando entre a alma e os ossos depois da opção. Miradouro e Outros Poemas (1976)
Divertimento O esperto esquilo ganha um coco. Tem olhos intranqüilos de louco.
Os dentes finos mostra. E em pouco os dentes finca na polpa. Assim, com perfeito estilo, sob estridentes dentes, o coco, em segundos, fica todo oco. O menino poeta
Do supérfluo Também as cousas participam de nossa vida. Um livro. Uma rosa. Um trecho musical que nos devolve a horas inaugurais. O crepúsculo acaso visto num país que não sendo da terra evoca apenas a lembrança de outra lembrança mais longínqua. O esboço tão-somente de um gesto de ferina intenção. A graça de um retalho de lua a pervagar num reposteiro A mesa sobre a qual me debruço cada dia mais temerosa de meus próprios dizeres. Tais cousas de íntimo domínio talvez sejam supérfluas. No entanto que tenho a ver contigo se não leste o livro que li não viste a rosa que plantei nem contemplaste o pôr-do-sol à hora em que o amor se foi? Que tens a ver comigo se dentro em ti não prevalecem as cousas — todavia supérfluas — do meu intransferível patrimônio? Pousada do Ser (1982)
Drama de Bárbara Heliodora "Bárbara bela do norte estrela que o meu destino sabes guiar." Quem é esse que assim canta como quem está chorando? Suas faces encovaram, seus olhos se amorteceram, sobre seus cabelos negros cai uma chuva de cinza. Ah! e havia tanta brasa em torno de seus cabelos, tanto sol na sua ilharga, tanto ouro nas suas minas, tanto potro galopando nas suas terras sem fim.
Grão de poeira quando o vento a madrugada castiga: Já não é mais Alvarenga quem foi Alvarenga um dia. Do galho tomba uma fruta verde sobre o lago fundo. A árvore guardava a seiva toda nessa fruta verde. A mão trêmula do poeta mal sabe aquilo que escreve: "Tu entre os braços ternos abraços da filha amada podes gozar." A essas horas, na distância, vai pela tarde dorida sob a chuva, entre salpicos de lama, um caixão mortuário sem enfeites nem bordados, senão os que a lama asperge no pano que cobre as tábuas. Quando a alvura da açucena se refugiava nas moitas, Maria Ifigênia encontra sua gruta para sempre. É deveras a Princesa do Brasil, essa menina de madeixas escorridas, de lábios esmaecidos, de túnica mal vestida? Essa, a mesma por quem vinham da Corte os melhores mestres de dança e língua estrangeira? A de damascos e auréolas a quem brotavam nos dedos tíbios ramos de coral? Linda, lendária Princesa, por quem chora já sem lágrimas pobre mulher desvairada de olhos que olham mas não vêem. Chora Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira. E em suas artérias corre o sangue de Amador Bueno! Chora, porém já sem lágrimas. É de mármore seu rosto. Seu busto cai sobre os joelhos: flores que de trepadeiras pendem murchas para o solo. Talvez já nem saiba como
– para donaire da estirpe – na ponta dos pés erguida em hora periclitante ousou admoestar o esposo: "Antes a miséria, a fome, a morte, do que a traição!" Valem muralhas de pedra para represa dos rios, certas palavras eternas que decidem do destino. Madrinha Lua (1952)
Em sobressalto As notícias me sobressaltam. Dia a dia cada vez mais terríveis. Brotam da terra pelos poros entram pela janela em silvos ásperos fazem pilha no chão em letras tortas caem das nuvens em mortalhas. E já são outras realidades apostas ao retoque dos memorandos às interpretações da ribalta ao sortilégio da casa dos contos ao ruminar dos bois — fuga e refúgio. Em confronto são dúbias precipitam-se acotovelam-se em contramarcha se repelem. Na deturpação do humano anunciam com alvoroço através de pinças de fogo em cartazes de gelo — o suicídio da multidão em nome de Deus — o império do vício em nome da Arte — o sequestro do juiz em prol da Justiça — o arremesso de touros em via pública para a alegria dos que se salvam. Recuso-me a acreditar nas notícias mas elas se impõem de cátedra com implacável desfaçatez talvez para convencer-nos de que somos todos culpados. Agem assim como tóxicos impunemente sorvidos nas delongas do tédio. A busca de notícias é um mórbido caminhar para a cruz Sem embargo as procuro com empenho na expectativa tantas vezes vã de que à noite se mudem na reparação no contraveneno das notícias colhidas pela manhã. Pousada do Ser (1982)
Horizonte Alma em suspiro pelo encontro
do que fica sempre mais longe Reverberações (1976)
Infância E volta sempre a infância com suas íntimas, fundas amarguras. Oh! por que não esquecer as amarguras e somente lembrar o que foi suave ao nosso coração de seis anos? A misteriosa infância ficou naquele quarto em desordem, nos soluços de nossa mãe junto ao leito onde arqueja uma criança; nos sobrecenhos de nosso pai examinando o termomêtro: a febre subiu; e no beijo de despedida à irmãzinha à hora mais fria da madrugada. A infância melancólica ficou naqueles longos dias iguais, a olhar o rio no quintal horas inteiras, a ouvir o gemido dos bambus verde-negros em luta sempre contra as ventanias! A infância inquieta ficou no medo da noite quando a lamparina vacilava mortiça e ao derredor tudo crescia escuro, escuro... A menininha ríspida nunca disse a ninguém que tinha medo, porém Deus sabe como seu coração batia no escuro, Deus sabe como seu coração ficou para sempre diante da vida — batendo, batendo assombrado! Prisioneiro da Noite (1941)
Lenda das pedras verdes – Fernão Dias, Fernão Dias, deixa a Uiara dormir! Tem um sabor secular ressoando dentro da noite, a voz monótona do índio. A Serra Resplandecente fulge ao luar junto à lagoa. Pela escada de Jacó sobem e descem estrelas. – Ai, Serra Resplandecente, Lagoa Vupabuçu! Tantos anos de procura como é que os hei de perder! – Fernão Dias, Fernão Dias, deixa a Uiara dormir! A vida da tribo está no grande sono da Uiara. O grande sono da Uiara
reside nos seus cabelos. Seus cabelos eram de água, tornaram-se em pedras verdes. Voz de raça moribunda Fernão Dias não escuta. – Sete anos há que deixei minha terra e meu sossego em troca de uma esperança que é meu respiro e bordão. Da Serra da Mantiqueira até o Rio Uaimi, quantos montes, quantos vales para descer e subir, que de sombras e emboscadas antes do raiar do dia! Vem de mais longe, profunda, a voz do índio recordando: – Nas noites de lua cheia quando a Uiara cantava branca e linda, emoldurada pelas ondas dos cabelos, mais de um valente guerreiro por ela se suicidava. Foi então que Macachera com prudência soube agir, mandando Uiara dormisse velada por sentinelas um sono igual ao da pedra. – Vós que velais o seu sono, desembaraçai as armas! Ah! esse canto escondido, essa beleza roubada, esses cabelos que brilham com viva luz de esmeraldas! Ser guerreiro, ser valente, depois dormir para sempre nos verdes braços da Uiara! – Fernão Dias, Fernão Dias! deixa a Uiara dormir! Madrinha Lua (1952)
Melancolia Água negra negros bordes poço negro com flor. Água turva densa escuma turvo limo com flor. Noite espessa sem lanterna espesso poço com flor.
sobra, corpo de serpente na oferenda da flor Risco de morte violenta, árdua morte de asfixia veneno letal fatal quase que puro suicídio com uma lenta lenta flor. A Face Lívida (1945)
Modelagem / Mulher Assim foi modelado o objeto: para subserviência. Tem olhos de ver e apenas entrevê. Não vai longe seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem das tesouras. É um mito sem asas, condicionado às fainas da lareira Seria uma cântaro de barro afeito a movimentos incipientes sob tutela. Ergue a cabeça por instantes e logo esmorece por força de séculos pendentes. Ao remover entulhos leva espinhos na carne. Será talvez escasso um milênio para que de justiça tenha vida integral. Pois o modelo deve ser indefectível segundo as leis da própria modelagem. Pousada do Ser (1982)
Noturno Meu pensamento em febre é uma lâmpada acesa a incendiar a noite. Meus desejos irrequietos, à hora em que não há socorro, dançam livres como libélulas em redor do fogo. Prisioneira da Noite (1941)
Saudação a Drummond Eu te saúdo Irmão Maior pelo que tens sido e serás
dentro do tempo espaço afora e além da vida: luminar homem simples da terra aprisionado no íntimo para libertador de pássaros e agenciador de símbolos. Pela pedra no caminho que foi ato de bravura e foi cabo de tormentas. Pelo brejo das almas em verde com margaridas. Pelo sentimento do mundo com que orvalhas o linho da comunhão geral. Pelas fazendas do ar em que brindas cultivos de transcedentes dimensões. Pelos claros enigmas que decifras e que armas em desdobrados ciclos. Pela vida passada a limpo em lâminas de cristal. Pela rosa do povo com que humanizas o asfalto. Pela lição de coisas que nos ensinas a aprender. Pelo boitempo este sabor de renascimento da infância. Em nome de Mário de Andrade — até as amendoeiras falam — em nome de Manuel Bandeira em nome de Emílio Moura presentes embora silentes no alto da Casa em outros mais cômodos aposentos de onde nos contemplam líricos a nós abaixo no vestíbulo. Saúdo-te mineiro Carlos de olhos azuis como os da criança guardada sempre mais a fundo em candidez e malícia ao largo de lavouras híspidas ao longo de setenta outubros vincados de diamante e ferro sem nostalgia de crepúsculo. Saúdo-te com sete rosas em botão as mais puras colhidas de madrugada antes do sol em suas pétalas por teu sétimo aniversário outrora de menino poeta. Miradouro e Outros Poemas (1976)
Séquito Seguir o rei por toda parte antes que a coroa lhe caia Reverberações (1976)
João Cabral de Melo Neto Obra completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994
Para Joaquim Cardozo Com teus sapatos de borracha seguramente é que os seres pisam no fundo das águas. Encontraste algum dia sobre a terra o fundo do mar, o tempo marinho e calmo? Tuas refeições de peixe; teus nomes femininos: Mariana; teu verso medido pelas ondas; a cidade que não consegues esquecer aflorada no mar: Recife, arrecifes, marés, maresias; e marinha ainda a qrquitetura que calculaste: tantos sinais da marítima nostalgia que te fez lento e longo O engenheiro (1942-1945)
Tecendo a Manhã 1 Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. 2 E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão. A Educação pela Pedra
Poema(s) da Cabra Nas margens do Mediterrâneo não se vê um palmo de terra que a terra tivesse esquecido de fazer converter em pedra.
Nas margens do Mediterrâneo Não se vê um palmo de pedra que a pedra tivesse esquecido de ocupar com sua fera. Ali, onde nenhuma linha pode lembrar, porque mais doce, o que até chega a parecer suave serra de uma foice, não se vê um palmo de terra por mais pedra ou fera que seja, que a cabra não tenha ocupado com sua planta fibrosa e negra. 1 A cabra é negra. Mas seu negro não é o negro do ébano douto (que é quase azul) ou o negro rico do jacarandá (mais bem roxo). O negro da cabra é o negro do preto, do pobre, do pouco. Negro da poeira, que é cinzento. Negro da ferrugem, que é fosco. Negro do feio, às vezes branco. Ou o negro do pardo, que é pardo. disso que não chega a ter cor ou perdeu toda cor no gasto. É o negro da segunda classe. Do inferior (que é sempre opaco). Disso que não pode ter cor porque em negro sai mais barato. 2 Se o negro quer dizer noturno o negro da cabra é solar. Não é o da cabra o negro noite. É o negro de sol. Luminar. Será o negro do queimado mais que o negro da escuridão. Negra é do sol que acumulou. É o negro mais bem do carvão. Não é o negro do macabro. Negro funeral. Nem do luto. Tampouco é o negro do mistério, de braços cruzados, eunuco. É mesmo o negro do carvão. O negro da hulha. Do coque. Negro que pode haver na pólvora: negro de vida, não de morte. 3 O negro da cabra é o negro da natureza dela cabra. Mesmo dessa que não é negra, como a do Moxotó, que é clara. O negro é o duro que há no fundo
da cabra. De seu natural. Tal no fundo da terra há pedra, no fundo da pedra, metal. O negro é o duro que há no fundo da natureza sem orvalho que é a da cabra, esse animal sem folhas, só raiz e talo, que é a da cabra, esse animal de alma-caroço, de alma córnea, sem moelas, úmidos, lábios, pão sem miolo, apenas côdea. 4 Quem já encontrou uma cabra que tivesse ritmos domésticos? O grosso derrame do porco, da vaca, do sono e de tédio? Quem encontrou cabra que fosse animal de sociedade? Tal o cão, o gato, o cavalo, diletos do homem e da arte? A cabra guarda todo o arisco, rebelde, do animal selvagem, viva demais que é para ser animal dos de luxo ou pajem. Viva demais para não ser, quando colaboracionista, o reduzido irredutível, o inconformado conformista. 5 A cabra é o melhor instrumento de verrumar a terra magra. Por dentro da serra e da seca não chega onde chega a cabra. Se a serra é terra, a cabra é pedra. Se a serra é pedra, é pedernal. Sua boca é sempre mais dura que a serra, não importa qual. A cabra tem o dente frio, a insolência do que mastiga. Por isso o homem vive da cabra mas sempre a vê como inimiga. Por isso quem vive da cabra e não é capaz do seu braço desconfia sempre da cabra: diz que tem parte com o Diabo. 6 Não é pelo vício da pedra, por preferir a pedra à folha. É que a cabra é expulsa do verde, trancada do lado de fora. A cabra é trancada por dentro. Condenada à caatinga seca.
Liberta, no vasto sem nada, proibida, na verdura estreita. Leva no pescoço uma canga que a impede de furar as cercas. Leva os muros do próprio cárcere: prisioneira e carcereira. Liberdade de fome e sede da ambulante prisioneira. Não é que ela busque o difícil: é que a sabem capaz de pedra. 7 A vida da cabra não deixa lazer para ser fina ou lírica (tal o urubu, que em doces linhas voa à procura da carniça). Vive a cabra contra a pendente, sem os êxtases das decidas. Viver para a cabra não é re-ruminar-se introspectiva. É, literalmente, cavar a vida sob a superfície, que a cabra, proibida de folhas, tem de desentranhar raízes. Eis porque é a cabra grosseira, de mãos ásperas, realista. Eis porque, mesmo ruminando, não é jamais contemplativa. 8 O núcleo de cabra é visível por debaixo de muitas coisas. Com a natureza da cabra outras aprendem sua crosta. Um núcleo de cabra é visível em certos atributos roucos que têm as coisas obrigadas a fazer de seu corpo couro. A fazer de seu couro sola, a armar-se em couraças, escamas: como se dá com certas coisas e muitas condições humanas. Os jumentos são animais que muito aprenderam com a cabra. O nordestino, convivendo-a, fez-se de sua mesma casta. 9 O núcleo de cabra é visível debaixo do homem do Nordeste. Da cabra lhe vem o escarpado e o estofo nervudo que o enche. Se adivinha o núcleo de cabra no jeito de existir, Cardozo, que reponta sob seu gesto
como esqueleto sob o corpo. E é outra ossatura mais forte que o esqueleto comum, de todos; debaixo do próprio esqueleto, no fundo centro de seus ossos. A cabra deu ao nordestino esse esqueleto mais de dentro: o aço do osso, que resiste quando o osso perde seu cimento. * O Mediterrâneo é mar clássico, com águas de mármore azul. Em nada me lembra das águas sem marca do rio Pajeú. As ondas do Mediterrâneo estão no mármore traçadas. Nos rios do Sertão, se existe, a água corre despenteada. As margens do Mediterrâneo parecem deserto balcão. Deserto, mas de terras nobres não da piçarra do Sertão. Mas não minto o Mediterrâneo nem sua atmosfera maior descrevendo-lhe as cabras negras em termos da do Moxotó.
O Ovo de Galinha I Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria, unitária, maciçamente ovo, num todo. Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras, sem miolo: é só miolo: o dentro e o fora integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso: que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro; que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. II O ovo revela o acabamento a toda mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida. E que se encontra também noutras que entretanto mão não fabrica: nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas
cujas formas simples são obra de mil inacabáveis lixas usadas por mãos escultoras escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final: está no ponto de partida. III A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo, e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara: é a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que conservando outras guardadas ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. IV Na manipulação de um ovo um ritual sempre se observa: há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo porém está fechado em sua arquitetura hermética e quem o carrega, sabendo-o, prossegue na atitude regra: procede ainda da maneira entre medrosa e circunspeta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela.
Antiode (contra a poesia dita profunda) A Poesia te escrevia: flor! conhecendo que és fezes. Fezes como qualquer. gerando cogumelos (raros, fragéis, cogumelos) no úmido calor de nossa boca. Delicado, escrevia: flor! (Cogumelos serão flor? Espécie estranha, espécie extinta de flor, flor ão de todo flor,
OC 302.
mas flor, bolha aberta no maduro) Delicado, evitava o estrume do poema, seu caule, seu ovário, suas intestinações. Esperava as puras, transparentes florações, nascidas do ar, no ar, como as brisas. B Depois, eu descobriria que era lícito te chamar: flor! (Pelas vossas iguais circunstâncias? Vossas gentis substâncias? Vossas doces carnações? Pelos virtuosos vergéis de vossas evocações? Pelo pudor do verso - pudor de flor por seu tão delicado pudor de flor, que só se abre quando a esquece o sono do jardineiro?) Depois eu descobriria que era lícito te chamar: flor! (flor, imagem de duas pontas, como uma corda). Depois eu descobriria as duas pontasda flor: as duas bocas da imagem da flor: a boca que come o defunto e a boca que orna o defunto com outro defunto, com flores, - cristais de vômito. C Como não invocar o vício da poesia: o corpo que entorpece ao ar de versos? (Ao ar de águas mortas, injetando na carne do dia a infecção da noite). Fome de vida? Fome de morte, frequentação da morte, como de algum cinema. O dia? Árido. Venha, então, a noite,
o sono. Venha, por isso, a flor. Venha, mais fácil e portátil na memória, o poema, flor no colête da lembrança. Como não invocar, sobretudo, o exercício do poema, sua prática, sua lânguida horti-cultura? Pois estações há, do poema, como da flor, ou como no amor dos cães; e mil mornos enxertos, mil maneiras de excitar negros êxtases, e a morna espera de que se apodreça em poema, prévia exalação de alma defunta. D Poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo: flor! (Te escrevo: flor! Não uma flor, nem aquela flor-virtude - em disfarçados urinóis). Flor é a palavra flor, verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o vôo; o salto fora do sono quando seu tecido se rompe; é uma explosão posta a funcionar, como uma máquina, uma jarra de flores. E Poesia, te escrevo agora: fezes, as fezes vivas que és. Sei que outras palavras és, palavras impossíveis de poema. Te escrevo, por isso, fezes, palavra leve, contando com sua breve. Te escrevo cuspe, cuspe, não mais; tão cuspe como a terceira (como usá-la num
poema?) a terceira das virtudes teologais.
Difícil ser funcionário Difícil ser funcionário Nesta segunda-feira. Eu te telefono, Carlos Pedindo conselho. Não é lá fora o dia Que me deixa assim, Cinemas, avenidas, E outros não-fazeres. É a dor das coisas, O luto desta mesa; É o regimento proibindo Assovios, versos, flores. Eu nunca suspeitara Tanta roupa preta; Tão pouco essas palavras — Funcionárias, sem amor. Carlos, há uma máquina Que nunca escreve cartas; Há uma garrafa de tinta Que nunca bebeu álcool. E os arquivos, Carlos, As caixas de papéis: Túmulos para todos Os tamanhos de meu corpo. Não me sinto correto De gravata de cor, E na cabeça uma moça Em forma de lembrança Não encontro a palavra Que diga a esses móveis. Se os pudesse encarar... Fazer seu nojo meu... Carlos, dessa náusea Como colher a flor? Eu te telefono, Carlos, Pedindo conselho. Esse poema, escrito em 29-09-1943, revela a decisiva influência de Carlos Drummond de Andrade nas primeiras produções do autor. Inédito, foi extraído dos "Cadernos de Literatura Brasileira", nº. 01, publicado pelo Instituto Moreira Salles em março de 1996, pág.60.
Velório de um Comendador I Quem quer que o veja defunto havendo-o tratado em vida, pensará: todo um alagado coube aqui nesta bacia. Resto de banho, água choca, na banheira do salão,
sua preamar permanente se empoça, em toda a acepção. A brisa passa nas flores, baronesas no morto-água, mas nem de leve arrepia a pele dela, estagnada. Talvez porque qualquer água fique mais densa, se morta, mais pesada aos dedos finos das brisas, ou a outras cócegas. Não há dúvida, a água morta se torna muito mais densa: ao menos, se vê boiando, nesta, o metal da comenda. Não se entende é porque a água não arrebenta o caixão: mais densa, pesará mais, terá mais forte pressão. Como seja: agora um dique detém, de simples madeira, uma água morta que ele era, sem confins, mar de água mangue. II Todos os que o vejam assim, coberto de tantas flores, pensarão que num canteiro, não num caixão, está hoje. O tamanho e as proporções fazem o engano mais perfeito: pois é idêntico o abaulado de leirão e de canteiro. Nem por estar numa sala, está essa imagem desfeita: se em salas não há jardins, há contudo jardineiras. E só não se enganaria nem cairia na imagem, alguém que entendesse muito de jardins e reparasse: que a terra do tal canteiro deve ser da mais salobre, dado o pouco tempo que abre o guarda-sol dessas flores com que os amigos que tinha o quiseram ajardinar, e que murcham, se bem cheguem abertas de par em par. Na verdade, as flores todas fecham rápido suas tendas. A não ser a flor eterna, por ser metal, da comenda, que, de metal, pode ser que dure e nunca enferruje. Ou um pouco mais: pois parece que já a ataca o chão palustre. III Embarcado no caixão, parece que ele, afinal,
encontrou o seu veículo: a marca e o modelo ideal. Buscava um carro ajustado ao compasso do que foi; mais ronceiro, se possível, que os mesmos carros-de-boi. Mais dos que achava dizia perigosos de se usar. Igual dizia dos livros e das correntes-de-ar. E agora tem, no caixão, esse veículo buscado; não é um carro, porém é um veículo, um barco. O que buscava, queria sem rodas, como este mesmo; rodas lhe davam vertigem senão em comenda, ao peito. E isso porque quando via qualquer condecoração, se bem de forma rebelde, de cusparada ou explosão, via nela só o metal, a âncora a atar-se ao pescoço para não deixar que nada se mova de um mesmo porto. Morto, ei-lo afinal que encontra seu tão buscado modelo: o barco em que vai, parado, não tem roda, é todo freios. IV Está no caixão, exposto como uma mercadoria; à mostra, para vender, quem antes tudo vendia: antes, abria as barricas para mostrar a qualidade, ao olfato do freguês, de seu bacalhau, seu charque; ou com gestos joalheiros espalhava no balcão para melhor demonstrá-las suas gemas: milho, feijão; e o que se julga com o tato, fubás, farinha-do-reino, ele mostrava escorrendo-os, sensual, por entre os dedos. Mostrar amostras foi lema de seu armazém de estiva. e eis que agora aqui à mostra o mercador mercadoria, mesmo com essa comenda no peito, a recomendá-lo, e é nele como a medalha de um produto premiado, e assim acondicionado como está, em caixão vitrina, bem mais fino que os caixotes onde mostrava as farinhas,
mesmo com essa comenda e essa embalagem de flor, eis que ele, em mercadoria, não encontra comprador.
O Relógio 1. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas não é certo; mais perto estão das gaiolas ao menos, pelo tamanho e quadradiço de forma. Uma vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros; outras vezes, mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja: a gaiola será de pássaro ou pássara: é alada a palpitação, a saltação que ela guarda; e de pássaro cantor, não pássaro de plumagem: pois delas se emite um canto de uma tal continuidade que continua cantando se deixa de ouvi-lo a gente: como a gente às vezes canta para sentir-se existente. 2. O que eles cantam, se pássaros, é diferente de todos: cantam numa linha baixa, com voz de pássaro rouco; desconhecem as variantes e o estilo numeroso dos pássaros que sabemos, estejam presos ou soltos; têm sempre o mesmo compasso horizontal e monótono, e nunca, em nenhum momento, variam de repertório:
OC 317.
dir-se-ia que não importa a nenhum ser escutado. Assim, que não são artistas nem artesãos, mas operários para quem tudo o que cantam é simplesmente trabalho, trabalho rotina, em série, impessoal, não assinado, de operário que executa seu martelo regular proibido (ou sem querer) do mínimo variar. 3. A mão daquele martelo nunca muda de compasso. Mas tão igual sem fadiga, mal deve ser de operário; ela é por demais precisa para não ser mão de máquina, a máquina independente de operação operária. De máquina, mas movida por uma força qualquer que a move passando nela, regular, sem decrescer: quem sabe se algum monjolo ou antiga roda de água que vai rodando, passiva, graçar a um fluido que a passa; que fluido é ninguém vê: da água não mostra os senões: além de igual, é contínuo, sem marés, sem estações. E porque tampouco cabe, por isso, pensar que é o vento, há de ser um outro fluido que a move: quem sabe, o tempo. 4. Quando por algum motivo a roda de água se rompe, outra máquina se escuta: agora, de dentro do homem;
outra máquina de dentro, imediata, a reveza, soando nas veias, no fundo de poça no corpo, imersa. Então se sente que o som da máquina, ora interior, nada possui de passivo, de roda de água: é motor; se descobre nele o afogo de quem, ao fazer, se esforça, e que êle, dentro, afinal, revela vontade própria, incapaz, agora, dentro, de ainda disfarçar que nasce daquela bomba motor (coração, noutra linguagem) que, sem nenhum coração, vive a esgotar, gôta a gôta, o que o homem, de reserva, possa ter na íntima poça.
O Rio ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife
1953 "Quiero que compongamos io e tú una prosa." (Berceo)
Da lagoa da Estaca a Apolinário Sempre pensara em ir caminho do mar. Para os bichos e rios nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar; sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras de que só sei por ouvir contar (pois, também como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar). Deste tudo que me lembro, lembro-me bem de que baixava entre terras de sede
que das margens me vigiavam. Rio menino, eu temia aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo que águas meninas cobiçava. Por isso é que ao descer caminho de pedras eu buscava, que não leito de areia com suas bocas multiplicadas. Leito de pedra abaixo rio menino eu saltava. Saltei até encontrar as terras fêmeas da Mata. Notícia do Alto Sertão Por trás do que lembro, ouvi de uma terra desertada, vaziada, não vazia, mais que seca, calcinada. De onde tudo fugia, onde só pedra é que ficava, pedras e poucos homens com raízes de pedra, ou de cabra. Lá o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves; as árvores, a sombra, que nelas já não pousava. Tudo o que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas, a terra devastada ainda mais fundo devastava. A estrada da Ribeira Como aceitara ir no meu destino de mar, preferi essa estrada, para lá chegar, que dizem da ribeira e à costa vai dar, que deste mar de cinza vai a um mar de mar; preferi essa estrada de muito dobrar, estrada bem segura que não tem errar pois é a que toda a gente costuma tomar (na gente que regressa sente-se cheiro de mar). De Apolinário a Poço Fundo Para o mar vou descendo por essa estrada da ribeira. A terra vou deixando de minha infância primeira. Vou deixando uma terra reduzida à sua areia, terra onde as coisas vivem
a natureza da pedra. À mão direita os ermos do Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga à esquerda, onde o ermo é sempre o mesmo. Brejo ou Taquaritinga, mão direita ou mão esquerda, vou entre coisas poucas e secas além de sua pedra. Deixando vou as terras de minha primeira infância. Deixando para trás os nomes que vão mudando. Terras que eu abandono porque é de rio estar passando. Vou com passo de rio, que é de barco navegando. Deixando para trás as fazendas que vão ficando. Vendo-as, enquanto vou, parece que estão desfilando. Vou andando lado a lado de gente que vai retirando; vou levando comigo os rios que vou encontrando. Os rios Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios são de água pouca, em que a água sempre está por um fio. Cortados no verão que faz secar todos os rios. Rios todos com nome e que abraço como a amigos. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelido. Mas todos como a gente que por aqui tenho visto: a gente cuja vida se interrompe quando os rios. De Poço Fundo a Couro d'Anta A gente não é muita que vive por esta ribeira. Vê-se alguma caieira tocando fogo ainda mais na terra; vê-se alguma fazenda com suas casas desertas: vêm para a beira da água como bichos com sede. As vilas não são muitas e quase todas estão decadentes. Constam de poucas casas e de uma pequena igreja, como, no itinerário,
já as descrevia Frei Caneca. Nenhuma tem escola; muito poucas possuem feira. As vilas vão passando com seus santos padroeiros. Primeiro é Poço Fundo, onde Santo Antônio tem capela. Depois é Santa Cruz onde o Senhor Bom Jesus se reza. Toritama, antes Tôrres, fez para a Conceição sua igreja. A vila de Capado chama-se pela sua nova capela. Em Topada, a igreja com um cemitério se completa. No lugar Couro d'Anta, a Conceição também se celebra. Sempre um santo preside à decadência de cada uma delas. A estrada da Paraíba Depois de Santa Cruz, que agora é Capibaribe, encontro uma outra estrada que desce da Paraíba. Saltando o Cariri e a serra de Taquaritinga, na estrada da ribeira ela deságua como num rio. Juntos, na da ribeira, continuamos, a estrada e o rio, agora com mais gente: a que por aquela estrada descia. Lado a lado com gente viajamos em companhia. Todos rumo do mar e do Recife esse navio. Na estrada da ribeira até o mar ancho vou. Lado a lado com gente, no meu andar sem rumor. Não é estrada curta, mas é a estrada melhor, porque na companhia de gente é que sempre vou. Sou viajante calado, para ouvir histórias bom, a quem podeis falar sem que eu tente me interpor; junto de quem podeis pensar alto, falar só. Sempre em qualquer viagem o rio é o companheiro melhor. Do riacho as Éguas ao ribeiro do Mel Caruaru e Vertentes na outra manhã abandonei.
Agora é Surubim, que fica do lado esquerdo. A seguir João Alfredo, que também passa longe e não vejo. Enquanto na direita tudo são terras de Limoeiro. Meu caminho divide, de nome, as terras que desço. Entretanto a paisagem, com tantos nomes, é quase a mesma. A mesma dor calada, o mesmo soluço seco, mesma morte de coisa que não apodrece mas seca. Coronéis padroeiros vão desfilando com cada vila. Passam Cheos, Malhadinha, muito pobres e sem vida. Depois é Salgadinho com pobre águas curativas. Depois é São Vicente, muito morta e muito antiga. Depois, Pedra Tapada, com poucos votos e pouca vida. Depois é Pirauíra, é um só arruado seguido, partido em muitos nomes mas todo ele pobre e sem vida (que só há esta resposta à ladainha dos nomes dessas vilas). A gente não é muita que vive por esta ribeira. Vê-se alguma caieira tocando fogo ainda mais na terra; vê-se alguma fazenda com suas casas desertas: vêm para a beira da água como bichos com sede. As vilas não são muitas e quase todas estão decadentes. Constam de poucas casas e de uma pequena igreja, como, no itinerário, já as descrevia Frei Caneca. Nenhuma tem escola; muito poucas possuem feira. As vilas vão passando com seus santos padroeiros. Primeiro é Poço Fundo, onde Santo Antônio tem capela. Depois é Santa Cruz onde o Senhor Bom Jesus se reza. Toritama, antes Tôrres, fez para a Conceição sua igreja. A vila de Capado chama-se pela sua nova capela. Em Topada, a igreja com um cemitério se completa.
No lugar Couro d'Anta, a Conceição também se celebra. Sempre um santo preside à decadência de cada uma delas. A estrada da Paraíba Depois de Santa Cruz, que agora é Capibaribe, encontro uma outra estrada que desce da Paraíba. Saltando o Cariri e a serra de Taquaritinga, na estrada da ribeira ela deságua como num rio. Juntos, na da ribeira, continuamos, a estrada e o rio, agora com mais gente: a que por aquela estrada descia. Lado a lado com gente viajamos em companhia. Todos rumo do mar e do Recife esse navio. Na estrada da ribeira até o mar ancho vou. Lado a lado com gente, no meu andar sem rumor. Não é estrada curta, mas é a estrada melhor, porque na companhia de gente é que sempre vou. Sou viajante calado, para ouvir histórias bom, a quem podeis falar sem que eu tente me interpor; junto de quem podeis pensar alto, falar só. Sempre em qualquer viagem o rio é o companheiro melhor. Do riacho as Éguas ao ribeiro do Mel Caruaru e Vertentes na outra manhã abandonei. Agora é Surubim, que fica do lado esquerdo. A seguir João Alfredo, que também passa longe e não vejo. Enquanto na direita tudo são terras de Limoeiro. Meu caminho divide, de nome, as terras que desço. Entretanto a paisagem, com tantos nomes, é quase a mesma. A mesma dor calada, o mesmo soluço seco, mesma morte de coisa que não apodrece mas seca. Coronéis padroeiros
vão desfilando com cada vila. Passam Cheos, Malhadinha, muito pobres e sem vida. Depois é Salgadinho com pobre águas curativas. Depois é São Vicente, muito morta e muito antiga. Depois, Pedra Tapada, com poucos votos e pouca vida. Depois é Pirauíra, é um só arruado seguido, partido em muitos nomes mas todo ele pobre e sem vida (que só há esta resposta à ladainha dos nomes dessas vilas). Terras de Limoeiro Vou na mesma paisagem reduzida à sua pedra. A vida veste ainda sua mais dura pele. Só que aqui há mais homens para vencer tanta pedra, para amassar com sangue os ossos duros desta terra. E se aqui há mais homens, esses homens melhor conhecem como obrigar o chão com plantas que comem pedra. Há aqui homens mais homens que em sua luta contra a pedra sabem como se armar com as qualidades da pedra. Dias depois, Limoeiro, cortada a faca na ribanceira. É a cidade melhor, tem cada semana duas feiras. Tem a rua maior, tem também aquela cadeia que Sebastião Galvão chamou de segura e muito bela. Tem melhores fazendas, tem inúmeras bolandeiras onde trabalha a gente para quem se fez aquela cadeia. Tem a igreja maior, que também é a mais feia, e a serra do Urubu onde desses símbolos negros. Porém bastante sangue nunca existe guardado em veias para amassar a terra que seca até sua funda pedra. Nunca bastantes rios matarão tamanha sede, ainda escancarada, ainda sem fundo e de areia. Pois, aqui, em Limoeiro,
com seu trem, sua ponte de ferro, com seus algodoais, com suas carrapateiras, persiste a mesma sede, ainda sem fundo, de palha ou areia, bebendo tantos riachos extraviados pelas capoeiras. De Limoeiro a Ilhetas Deixando vou agora esta cidade de Limoeiro. Passa Ribeiro Fundo onde só vivem ferreiros, gente dura que faz essas mãos mais duras de ferro com que se obriga a terra a entregar seu fruto secreto. Passa depois Boi-Sêco, Feiticeiro, Gameleira, Ilhetas, pequenos arruados plantados em terra alheia, onde vivem as mãos que calçando as outras, de ferro, vão arrancar da terra os alheios frutos do alheio. O trem de ferro Agora vou deixando o município de Limoeiro. Lá dentro da cidade havia encontrado o trem de ferro. Faz a viagem do mar mas não será meu companheiro, apesar dos caminhos que quase sempre vão paralelos. Sobre seu leito liso, com seu fôlego de ferro, lá no mar do Arrecife ele chegará muito primeiro. Sou um rio de várzea, não posso ir tão ligeiro. Mesmo que o mar os chame, os rios, como os bois, são ronceiros. Outra vez ouço o trem ao me aproximar de Carpina. Vai passar chã, lá por cima. Detém-se raramente, pois que sempre está fugindo, esquivando apressado as coisas de seu caminho. Diversa da dos trens é a viagem que fazem os rios: convivem com as coisas entre as quais vão fluindo; demoram nos remansos para descansar e dormir; convivem com a gente sem se apressar em fugir.
Encontro com o canavial No outro dia deixava o Agreste, na Chã do Carpina. Entrava por Paudalho, terra já de cana e de usinas. Via plantas de cana com sua cabeleira, ou crina, muita folha de cana com sua lâmina fina, muita soca de cana com sua aparência franzina, e canas com pendões que são as canas maninhas. Como terras de cana, são muito mais brandas e femininas. Foram terras de engenho, agora são terras de usina. Outros rios Foram terras de engenho, agora são terras de usina. É o que contam os rios que vou encontrando por aqui. Rios bem diferentes daqueles que já viajam comigo. E estes também abraço com abraço líquido e amigo. Os primeiros porém nenhuma palavra respondiam. Debaixo do silêncio eu não sei o que traziam. Nenhum deles também antecipar sequer parecia o ancho mar do Recife que os estava aguardando um dia. Primeiro é o Petribu, que trabalha para uma usina. Trabalham para engenhos o Apuá e o Cursaí. O Cumbe e o Cajueiro cresceram, como o Camilo, entre cassacos do eito, no mesmo duro serviço. Depois é o Muçurepe, que trabalha para outra usina. Depois vem o Goitá, dos lados da Chã da Alegria. Então, o Tapacurá, dos lados da Luz, freguesia da gente do escrivão que foi escrevendo o que eu dizia. Conversa de rios Só após algum caminho é que alguns contam seu segredo. Contam porque possuem
aquela pele tão espessa; por que todos caminham com aquele ar descalço de negros; por que descem tão tristes arrastando lama e silêncio. A história é uma só que os rios sabem dizer: a história dos engenhos com seus fogos a morrer. Nelas existe sempre uma usina e uma bangüê: a usina com sua boca, com suas várzeas o bangüê. A usina possui sempre uma moenda de nome inglês; o engenho, só a terra conhecida como massapê. E o que não pode entrar nas moendas de nomes inglês a usina vai moendo com muitos outros meios de moer. A usina tem urtigas, a usina tem morcegos, que ela pode soltar como amestrados exércitos para ajudar o tempo que vai roendo os engenhos, como toda já roeu a casa-grande do Poço do Aleixo. Do Petribu ao Tapacurá As coisas são muitas que vou encontrando neste caminho. Tudo planta de cana nos dois lados do caminho; e mais plantas de cana nos dois lados dos caminhos por onde os rios descem que vou encontrando neste caminho; e outras plantas de cana há nas ribanceiras dos outros rios; que estes encontraram antes de se encontrarem comigo. Tudo planta de cana e assim até o infinito; tudo planta de cana para uma sô boca de usina. As casas não são muitas que por aqui tenho encontrado (os povoados são raros que a cana não tenha expulsado). Poucas tem Rosarinho e Destêrro, que está pegado. Paudalho, que é maior, está menos ameaçada, Paudalho essa cidade construída dentro de um valado, com sua ponde de ferro
que eu atravesso de um salto. Santa Rita é depois, onde os trens fazem parada: só com medo dos trens é que o canavial não a assalta. Descoberta da Usina Até este dia, usinas eu não havia encontrado. Petribu, Muçurepe, para trás tinham ficado, porém o meu caminho passa por ali muito apressado. De usina eu conhecia o que os rios tinham contado. Assim, quando da Usina eu me estava aproximando, tomei caminho outro do que vi o trem tomar: tomei o da direita, que a cambiteira vi tomar, pois eu queria a Usina mais de perto examinar. Vira usinas comer as terras que iam encontrando; com grandes canaviais todas as várzeas ocupando. O canavial é a boca com que primeiro vão devorando matas e capoeiras, pastos e cercados; com que devoram a terra onde um homem plantou seu roçado; depois os poucos metros onde ele plantou sua casa; depois o pouco espaço de que precisa um homem sentado; depois os sete palmos onde ele vai ser enterrado. Muitos engenhos mortos haviam passado no meu caminho. De porteira fechada, quase todos foram engolidos. Muitos com suas serras, todos eles com seus rios, rios de nome igual como crias de casa, ou filhos. Antes foram engenhos, poucos agora são usinas. Antes foram engenhos, agora são imensos partidos. Antes foram engenhos com suas caldeiras vivas; agora são informes partidos que nada identifica. Encontro com a Usina
Mas nas Usina é que vi aquela boca maior que existe por detrás das bocas que ela plantou; que come o canavial que contra as terras soltou; que come o canavial e tudo o que ele devorou; que come o canavial e as casas que ele assaltou; que come o canavial e as caldeiras que sufocou. Só na Usina é que vi aquela boca maior, a boca que devora bocas que devorar mandou. Na vila da Usina é que fui descobrir a gente que as canas expulsaram das ribanceiras e vazantes; e que essa gente mesma na boca da Usina são os dentes que mastigam a cana que a mastigou enquanto gente; que mastigam a cana que mastigou anteriormente as moendas dos engenhos que mastigavam antes outra gente; que nessa gente mesma, nos dentes fracos que ela arrenda, as moendas estrangeiras sua força melhor assentam. Por esta grande usina olhando com cuidado vou, que esta foi a usina que toda esta mata dominou. Numa usina se aprende como a carne mastiga o osso, se aprende como mãos amassam a pedra, o caroço; numa usina se assiste à vitória, de dor maior, de brando sobre o duro, do grão amassando a mó; numa usina se assiste à vitória maior e pior, que é a da pedra curta furada de suor. Para trás vai ficando a triste povoação daquela usina onde vivem os dentes com que a fábrica mastiga. Dentes frágeis, de carne, que não duram mais de um dia; dentes são que se comem ao mastigar para a Companhia; de gente que, cada ano, o tempo da safra é que vive,
que, na braça da vida, tem marcado curto o limite. Vi homens de bagaço enquanto por ali discorria; vi homens de bagaço que morte úmida embebia. E vi todas as mortes em que esta gente vivia: vi a morte por crime, pingando a hora da vigia; a morte por desastre, com seus gumes tão precisos, como um braço se corta, cortar bem rente muita vida; via morte por febre, precedida de seu assovio, consumir toda a carne com um fogo que por dentro é frio. Ali não é a morte de planta que seca, ou de rio: é morte que apodrece, ali natural, que visto. Da Usina a São Lourenço da Mata Agora vou deixando a povoação daquela usina. Outra vez vou baixando entre infindáveis partidos; entre os mares de verde que sabe pintar Cícero Dias, pensando noutro engenho devorado por outra usina; entre colinas mansas de uma terra sempre em cio, que o vento, com carinho, penteia, como se sua filha. Que nem ondas de mar, multiplicadas, elas se estendiam; como ondas do mar de mar que vou conhecer um dia. À tarde deixo os mares daquela usina de usinas; vou entrando nos mares de algumas outras usinas. Sei que antes esses mares inúmeros se dividiam até que um mar mais forte os mais fracos engolia (hoje só grandes mares a Mata inteira dominam). Mas o mar obedece a um destino sem divisa, e o grande mar de cana, como o verdadeiro, algum dia, será uma só água em toda esta comum cercania. De São Lourenço à Ponte de Prata
Vou pensando no mar que daqui ainda estou vendo; em toda aquela gente numa terra tão viva morrendo. Através deste mar vou chegando a São Lourenço, que de longe é como ilha no horizonte de cana aparecendo; através deste mar, como um barco na corrente, mesmo sendo eu o rio, que vou navegando parece. Navegando Este mar, até o Recife irei, que as ondas deste mar somente lá se detêm. Ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior; entram comigo rios a quem o mar chamou, entra comigo a gente que com o mar sonhou, e também retirantes em que só o suor não secou; e entra essa gente triste, a mais triste que já baixou, a gente que a usina, depois de mastigar, largou. Entra a gente que a usina depois de mastigar largou; entra aquele usineiro que outro maior devorou; entra esse bangüezeiro reduzido a fornecedor; entra detrás um destes, que agora é um simples morador; detrás, o morador que nova safra já não fundou; entra, como cassaco, esse antigo morador; entra enfim o cassaco que por todas aquelas bocas passou. Detrás de cada boca, ele vê que há uma boca maior. Da Ponte de Prata a Caxangá A gente das usinas foi mais um afluente a engrossar aquele rio de gente que vem de além do Jacarará. Pelo mesmo caminho que venho seguindo desde lá, vamos juntos, dois rios,
cada um para seu mar. O trem outro caminho tomou na Ponte de Prata; foi por Tijipió e pelos mangues de Afogados. Sempre com retirantes, vou pela Várzea e por Caxangá onde as últimas ondas de cana se vêm espraiar. Entra-se no Recife pelo engenho São Francisco. Já em terras da Várzea, está São João, uma antiga usina. Depois se atinge a Várzea, a vila pròpriamente dita, com suas árvores velhas que dão uma sombra também antiga. A seguir, Caxangá, também velha e recolhida, onde começa a estrada dita Nova, ou de Iputinga, que quase reta à cidade, que é o mar a que se destina, leva a gente que veio baixando em minha companhia. Vou deixando à direita aquela planície aterrada que desde os pés de Olinda até os montes Guararapes, e que de Caxangá até o mar oceano, para formar o Recife os rios vão sempre atulhando. Com água densa de terra onde muitas usinas urinaram, água densa de terra e de muitas ilhas engravidada. Com substância de vida é que os rios a vão aterrando, com esse lixos de vida que os rios viemos carreando. De Caxangá a Apipucos Até aqui as últimas ondas de cana não chegam. Agora o vento sopra em folhas de um outro verde. Folhas muito mais finas as brisas daqui penteiam. São cabelos de moças ou dos bacharéis em direito que devem habitar naqueles sobrados tão pitorescos (pois os cabelos da gente que apodrece na lama negra geram folhas de mangue, que não folhas duras e grosseiras).
De Apipucos à Madalena Agora vou entrando no Recife pitoresco, sentimental, histórico, de Apipucos e do Monteiro: do Poço da Panela, da Casa Forte e do Caldeireiro, onde há poças de tempo estagnadas sob as mangueiras; de Sant'Ana de Dentro, das muitas olarias, rasas, se agachando do vento. E mais sentimental, histórico e pitoresco vai ficando o caminho a caminho da Madalena. Um velho cais roído e uma fila de oitizeiros há na curva mais lenta do caminho pela Jaqueira, onde (não mais está) um menino bastante guenzo de tarde olhava o rio como se filme de cinema; via-me, rio, passar com meu variado cortejo de coisas vivas, mortas, coisas de lixo e de despejo; vi o mesmo boi morto que Manuel viu numa cheia, viu ilhas navegando, arrancadas das ribanceiras. Vi muitos arrabaldes ao atravessar o Recife: alguns na beira da água, outros em deitadas colinas; muitos no alto de cais com casarões de escadas para o rio; todos sempre ostentando sua ulcerada alvenaria; todos bem orgulhosos, não digo de sua poesia, sim, da história doméstica que estuda para descobrir, nestes dias, como se palitava os dentes nesta freguesia. As primeiras ilhas Rasas na altura da água começam a chegar as ilhas. Muitas a maré cobre e horas mais tarde ressuscita (sempre depois que afloram outra vez à luz do dia voltam com chão mais duro do que o que dantes havia). Rasas na altura da água
vê-se brotar outras ilhas: ilhas ainda sem nome, ilhas ainda não de todo paridas. Ilha Joana Bezerra, do Leite, do Retiro, do Maruim: o touro da maré a estas já não precisa cobrir. O outro Recife Casas de lama negra há plantadas por essas ilhas (na enchente da maré elas navegam como ilhas); casas de lama negra daquela cidade anfíbia que existe por debaixo do Recife contado em Guias. Nela deságua a gente (como no mar deságuam rios) que de longe desceu em minha companhia; nela deságua a gente de existência imprecisa, no seu chão de lama entre água e terra indecisa. Dos Coelhos ao cais de Santa Rita Mas deixo essa cidade: dela mais tarde contarei. Vou naquele caminho que pelo hospital dos Coelhos, por cais de que as vazantes exibem gengivas negras, leva àquele Recife de fundação holandesa. Nele passam as pontes de robustez portuguesa, anúncios luminosos com muitas palavras inglesas; passa ainda a cadeia, passa o Palácio do Governo, ambos robustos, sólidos, plantados no chão mais seco. Rio lento de várzea, vou agora ainda mais lento, que agora minhas águas de tanta lama me pesam. Vou agora tão lento, porque é pesado o que carrego: vou carregado de ilhas recolhidas enquanto desço; de ilhas de terra preta, imagem do homem que encontrei no meu comprido trajeto (também a dor desse homem me impõe essa passada doença, arrastada, de lama, e assim cuidadosa e atenta).
Vão desfilando cais com seus sobrados ossudos. Passam muitos sobrados com seus telhados agudos. Passam, muito mais baixos, os armazéns de açúcar do Brum. Passam muitas barcaças para Itapissuma, Igaraçu. No cais de Santa Rita, enquanto vou norte-sul, surge o mar, afinal, como enorme montanha azul. No cais, Joaquim Cardozo morou e aprendeu a luz das costas do Nordeste, mineral de tanto azul. As duas cidades Mas antes de ir ao mar, onde minha fala se perde, vou contar da cidade habitada por aquela gente que veio meu caminho e de quem fui o confidente. Lá pelo Beberibe aquela cidade também se estende pois sempre junto aos rios prefere se fixar aquela gente; sempre perto dos rios, companheiros de antigamente, como se não pudessem por um minuto somente dispensar a presença de seus conhecidos de sempre. Conheço todos eles, do Agreste e da Caatinga; gente também da Mata vomitada pelas usinas; gente também daqui que trabalha nestas usinas, que aqui não moem cana, moem coisas muito mais finas. Muitas eu vi passar: fábricas, como aqui se apelidam; têm bueiro como usina, são iguais também por famintas. Só que as enormes bocas que existem aqui nestas usinas encontram muitas pedras dentro de sua farinha. A gente da cidade que há no avesso do Recife tem em mim um amigo, seu companheiro mais íntimo. Vivo como esta gente, entro-lhes pela cozinha; como bicho de casa
penetro nas camarinhas. As vilas que passei sempre abracei como amigo; desta vila de lama é que sou mais do que amigo: sou o amante, que abraça com corpo mais confundido; sou o amante, com ela leito de lama divido. Tudo o que encontrei na minha longa descida, montanhas, povoados, caieiras, viveiros, olarias, mesmo esses pés de cana que tão iguais me pareciam, tudo levava um nome com que poder ser conhecido. A não ser esta gente que pelos mangues habita: eles são gente apenas sem nenhum nome que os distinga; que os distinga na morte que aqui é anônima e seguida. São como ondas de mar, uma só onda, e sucessiva. A não ser esta cidade que vim encontrar sob o Recife: sua metade podre que com lama podre se edifica. É cidade sem nome sob a capital tão conhecida. Se é também capital, será uma capital mendiga. É cidade sem ruas e sem casas que se diga. De outra qualquer cidade possui apenas polícia. Desta capital podre só as estatísticas dão notícia, ao medir sua morte, pois não há o que medir em sua vida. Conheço toda a gente que deságua nestes alagados. Não estão no nível de cais, vivem no nível de lama e do pântano. Gente de olho perdido olhando-me sempre passar como se eu fosse trem ou carro de viajar. É gente que assim me olha desde o sertão do Jacarará; gente que sempre me olha como se, de tanto me olhar, eu pudesse o milagre de, num dia ainda por chegar, legar todos comigo, retirantes para o mar.
Os dois mares A um rio sempre espera um mais vasto e ancho mar. Para a agente que desce é que nem sempre existe esse mar, pois eles não encontram na cidade que imaginavam mar senão outro deserto de pântanos perto do mar. Por entre esta cidade ainda mais lenta é minha pisada; retardo enquanto posso os últimos dias da jornada. Não há talhas que ver, muito menos o que tombar: há apenas esta gente e minha simpatia calada. Oferenda Já deixando o Recife entro pelos caminhos comuns do mar: entre barcos de longe, sábios de muito viajar; junto desta barcaça que vai no rumo de Itamaracá; lado a lado com rios que chegam do Pina com Jiquiá. Ao partir companhia desta gente dos alagados que lhe posso deixar, que conselho, que recado? Somente a relação de nosso comum retirar; só esta relação tecida em grosso tear.
Alguns toureiros Eu vi Manolo Gonzáles e Pepe Luís, de Sevilha: precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Julio Aparício, de Madrid, como Parrita: ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Báez, Litri, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor: angustiosa de explosiva. E também Antonio Ordóñez, que cultiva flor antiga: perfume de renda velha,
de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodríguez, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra o da figura de lenha lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que à tragédia deu número, à vertigem, geometria decimais à emoção e ao susto, peso e medida, sim, eu vi Manuel Rodríguez, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor mas demonstrar aos poetas: como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como, então, trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema: sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema.
Num monumento à aspirina Claramente: o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina: de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. Principalmente porque, sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa, cada noite, sol imune às leis de meteorologia, a toda hora em que se necessita dele levanta e vem (sempre num claro dia): acende, para secar a aniagem da alma, quará-la, em linhos de um meio-dia. * Convergem: a aparência e os efeitos da lente do comprimido de aspirina: o acabamento esmerado desse cristal, polido a esmeril e repolido a lima, prefigura o clima onde ele faz viver e o cartesiano de tudo nesse clima.
De outro lado, porque lente interna, de uso interno, por detrás da retina, não serve exclusivamente para o olho a lente, ou o comprimido de aspirina: ela reenfoca, para o corpo inteiro, o borroso de ao redor, e o reafina. A educação pela pedra - 1966)
Ana Cristina Cesar Noite Carioca Diálogo de surdos, não: amistoso no frio. Atravanco na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo: essa que não tem nenhum segredo.
Encontro de assombrar na catedral Frente a frente, derramando enfim todas as palavras, dizemos, com os olhos, do silêncio que não é mudez. E não toma medo desta alta compadecida passional, desta crueldade intensa que te toma as duas mãos.
Este livro Meu filho. Não é automatismo. Juro. É jazz do coração. É prosa que dá prêmio. Um tea for two total., tilintar de verdade que você seduz, charmeur volante, pela pista, a toda. Enfie a carapuça. E cante. Puro açúcar branco e blue. é muito claro amor bateu para ficar nesta varanda descoberta a anoitecer sobre a cidade em construção sobre a pequena constrição no teu peito angústia de felicidade luzes de automóveis riscando o tempo canteiros de obras em repouso recuo súbito da trama Quando entre nós só havia uma carta certa a correspondência completa o trem os trilhos a janela aberta uma certa paisagem sem pedras ou sobressaltos meu salto alto em equilíbrio o copo d’água a espera do café
Aventura na Casa Atarracada Movido contraditoriamente por desejo e ironia
não disse mas soltou, numa noite fria, aparentemente desalmado; - Te pego lá na esquina, na palpitação da jugular, com soro de verdade e meia, bem na veia, e cimento armado para o primeiro a andar. Ao que ela teria contestado, não, desconversado, na beira do andaime ainda a descoberto: - Eu também, preciso de alguém que só me ame. Pura preguiça, não se movia nem um passo. Bem se sabe que ali ela não presta. E ficaram assim, por mais de hora, a tomar chá, quase na borda, olhos nos olhos, e quase testa a testa.
O Homem Público N. 1 (Antologia) Tarde aprendi bom mesmo é dar a alma como lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. Que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada deixando uma sombra no papel. Discursos detonam. Não sou eu que estou ali de roupa escura sorrindo ou fingindo ouvir. No entanto também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa de tão funda.
Nada, esta espuma Por afrontamento do desejo insisto na maldade de escrever mas não sei se a deusa sobe à superfície ou apenas me castiga com seus uivos. Da amurada deste barco quero tanto os seios da sereia.
Voando com o pássaro Tu queres sono: despe-te dos ruídos, e dos restos do dia, tira da tua boca o punhal e o trânsito, sombras de teus gritos, e roupas, choros, cordas e também as faces que assomam sobre a tua sonora forma de dar, e os outros corpos que se deitam e se pisam, e as moscas
que sobrevoam o cadáver do teu pai, e a dor (não ouças) que se prepara para carpir tua vigília, e os cantos que esqueceram teus braços e tantos movimentos que perdem teus silêncios, o os ventos altos que não dormem, que te olham da janela e em tua porta penetram como loucos pois nada te abandona nem tu ao sono.
Soneto Pergunto aqui se sou louca Quem quer saberá dizer Pergunto mais, se sou sã E ainda mais, se sou eu Que uso o viés pra amar E finjo fingir que finjo Adorar o fingimento Fingindo que sou fingida Pergunto aqui meus senhores quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina E que se diz ser alguém É um fenômeno mor Ou é um lapso sutil? olho muito tempo o corpo de um poema até perder de vista o que não seja corpo e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas
Flores do mais devagar escreva uma primeira letra escreva na imediações construídas pelos furacões; devagar meça a primeira pássara bisonha que riscar o pano de boca aberto sobre os vendavais; devagar imponha o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés; devagar imprima o primeiro olhar sobre o galope molhado dos animais; devagar peça mais e mais e mais
Tenho uma folha branca e limpa à minha espera: mudo convite tenho uma cama branca e limpa à minha espera: mudo convite tenho uma vida branca e limpa à minha espera: Inéditos e Dispersos, Ática, São Paulo, 1998
Protuberância Este sorriso que muitos chamam de boca É antes um chafariz, uma coisa louca Sou amativa antes de tudo Embora o mundo me condene Devo falar em nariz(as pontas rimam por dentro) Se nos determos amanhã Pelo menos não haverá necessidades frugais nos espreitando Quem me emprestar seu peito ma madrugada E me consolar, talvez tal vez me ensine um assobio Não sei se me querem, escondo-me sem impasses E repitamos a amadora sou Armadora decerto atrás das portas Não abro para ninguém, e se a pena é lépida, nada me detém É sem dúvida inútil o chuvisco de meus olhos O círculo se abre em circunferências concêntricas que se Fecham sobre si mesmas No ano 2001 terei (2001-1952=) 49 anos e serei uma rainha Rainha de quem, quê, não importa E se eu morrer antes disso Não verei a lua mais de perto Talvez me irrite pisar no impisável E a morte deve ser muito mais gostosa Recheada com marchemélou Uma lâmpada queimada me contempla Eu dentro do templo chuto o tempo Um palavra me delineia VORAZ E em breve a sombra se dilui, Se perde o anjo.