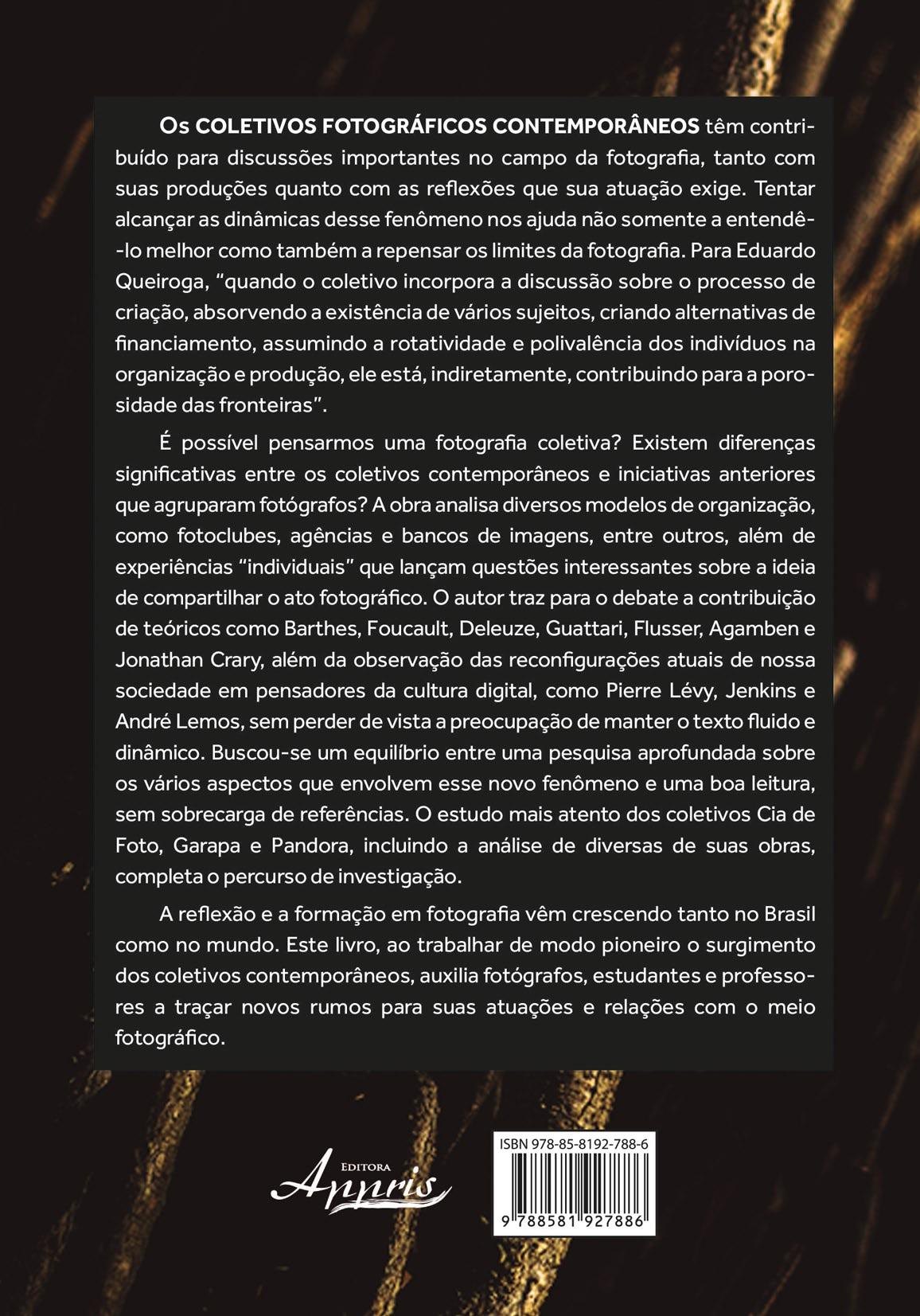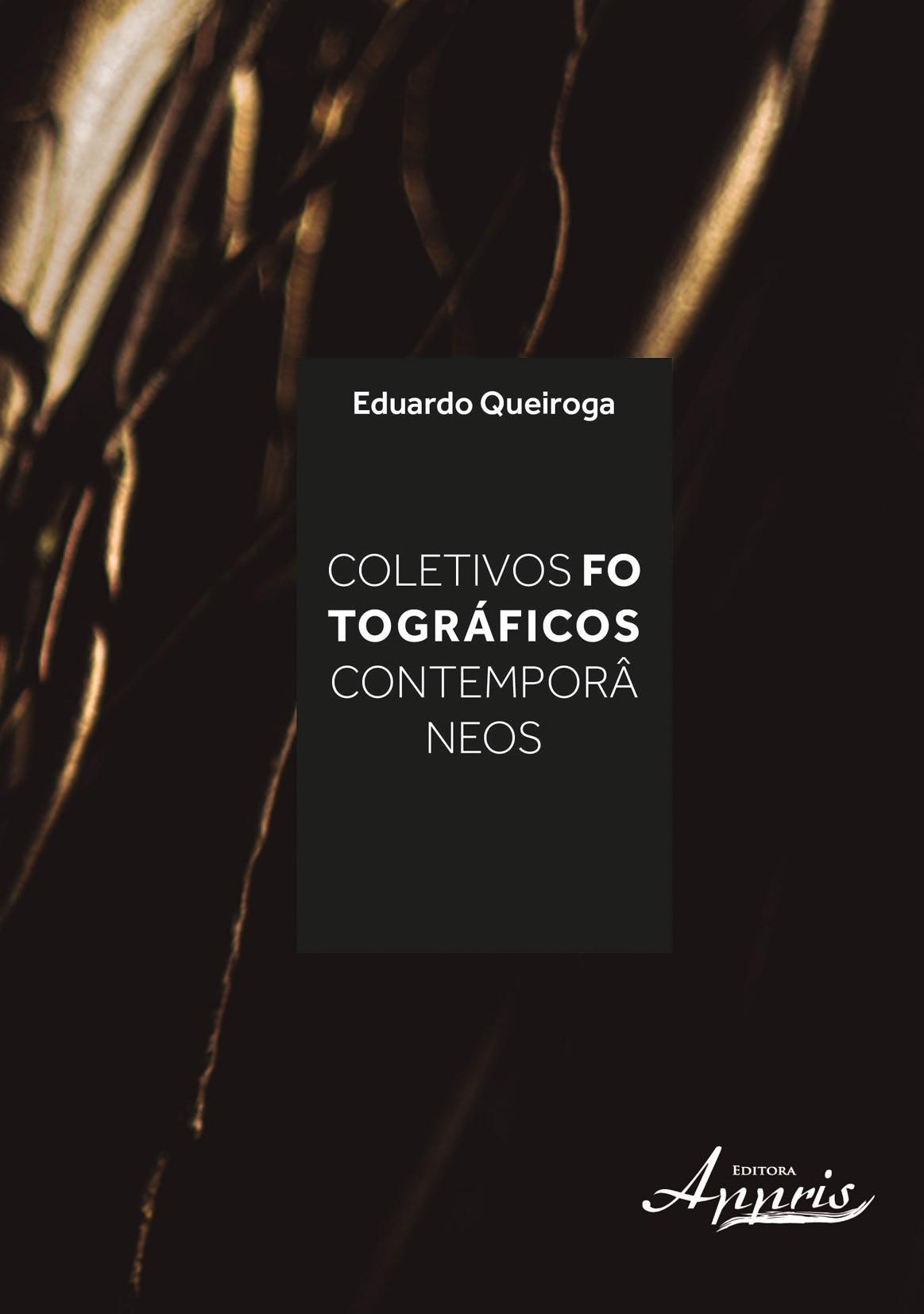
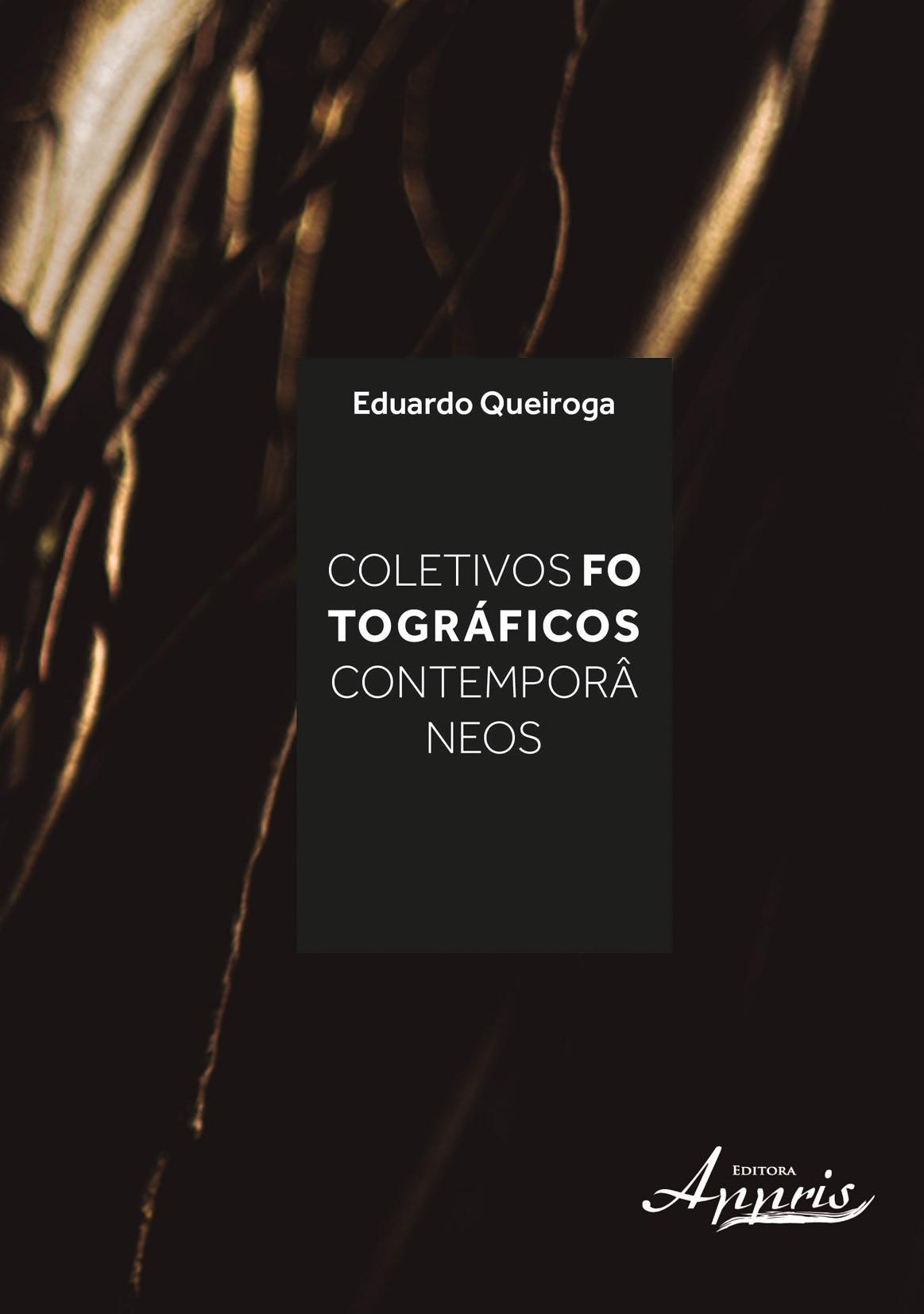
COLETIVOS FOTOGRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Elaborado por Sônia Magalhães Bibliotecária CRB9/1191
Queiroga, Eduardo
Q3 Coletivos fotográficos contemporâneos / Eduardo Queiroga. – 1. ed. 2015 – Curitiba, Appris, 2015. 205 p. ; 21 cm
Inclui bibliografias
ISBN 978-85-8192-788-6
1. Fotografia. 2. Fotógrafos. I. Título.
Editora e Livraria Appris Ltda. Rua José Tomasi, 924 - Santa Felicidade
Curitiba/PR - CEP: 82015-630
Tel: (41) 3156-4731 | (41) 3030-4570 http://www.editoraappris.com.br/
CDD 20. ed. – 770

Eduardo Queiroga
COLETIVOS FOTOGRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS

Curitiba - PR 2015
ASSESSORIA
COMITÊ
FICHA TÉCNICA
EDITORIAL Sara C. de Andrade Coelho
Augusto V. de A. Coelho
EDITORIAL Gisele Cristina Polakoski
EDITORIAL
Edmeire C. Pereira - Ad hoc.
Iraneide da Silva - Ad hoc.
Jacques de Lima Ferreira - Ad hoc.
Marli Caetano - Análise Editorial
DIREÇÃO - ARTE E PRODUÇÃO Adriana Polyanna V. R. da Cruz
DIAGRAMAÇÃO Kétlin Scroccaro
CAPA Andrezza Libel de Oliveira
REVISÃO Claudia Cabral
WEBDESIGN Carlos Eduardo H. Pereira
GERENTE COMERCIAL Eliane de Andrade
LIVRARIAS E EVENTOS Dayane Carneiro | Estevão Misael
ADMINISTRATIVO Selma Maria Fernandes do Valle
COMITÊ CIENTÍFICO DA COLEÇÃO CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
DIREÇÃO CIENTÍFICA Francisco de Assis (Fiam-Faam, SP, Brasil)
CONSULTORES Ana Carolina Rocha Pessôa Temer (UFG, GO, Brasil)
Antonio Hohlfeldt (PUCRS, RS, Brasil)
Carlos Alberto Messeder Pereira (UFRJ, RJ, Brasil)
Cicilia M. Krohling Peruzzo (Umesp, SP, Brasil)
Janine Marques Passini Lucht (ESPM, RS, Brasil)
Jorge A. González (CEIICH-UNAM, México)
Jorge Kanehide Ijuim (UFSC, SC, Brasil)
José Marques de Melo (Umesp, SP, Brasil)
Juçara Brittes (UFOP, MG, Brasil)
Isabel Ferin Cunha (UC, Portugal)
Márcio Fernandes (Unicentro, PR, Brasil)
Maria Aparecida Baccega (ESPM, SP, Brasil)
Maria Ataíde Malcher (UFPA, PA, Brasil)
Maria Berenice Machado (UFRGS, RS, Brasil)
Maria das Graças Targino (UFPI, PI, Brasil)
Maria Elisabete Antonioli (ESPM, SP, Brasil)
Marialva Carlos Barbosa (UFRJ, RJ, Brasil)
Osvando J. de Morais (Unesp, SP, Brasil)
Pierre Leroux (ISCEA-UCO, França)
Rosa Maria Dalla Costa (UFPR, PR, Brasil)
Sandra Reimão (USP, SP, Brasil)
Sérgio Mattos (UFRB, BA, Brasil)
Thomas Tufte (RUC, Dinamarca)
Zélia Leal Adghirni (UnB, DF, Brasil)
Para Daniel, Pedro e Renata.
Não é a madeira do tabuleiro e das pedras que torna o xadrez um jogo.
Vilém Flusser
APRESENTAÇÃO
Este livro é o desdobramento de uma pesquisa iniciada no mestrado e que teve continuidade, sofreu revisões e ampliações, recebeu novas contribuições. É natural que nossas instigações e dúvidas continuem operando transformações na maneira como enxergamos os fenômenos estudados. Se a defesa de uma dissertação ou tese é um momento importante na vida de cada um dos que já passaram por isso, ali só se conclui uma etapa, não o assunto. Este continua a reverberar nas nossas cabeças, nas nossas vivências. Mas, como disse o poeta Carlyle, “é preciso publicar para não passar a vida toda revisando”. Busquei acrescentar novos aspectos e exemplos, aprofundar outros que já estavam presentes e atualizar dados que considerei necessários, sem deixar de manter grande parte do que já havia escrito. Ao longo do texto, o leitor encontrará uma série relativamente abrangente de referências históricas e teóricas que devem cumprir a função não apenas de fundamentar a discussão, mas de serem possíveis caminhos para aprofundar aspectos específicos, como hipertextos que permitam desdobramentos e novos direcionamentos nos quais estas palavras sejam apenas mais uma esquina. São livros, sites, revistas com um mundo de textos, vídeos, entrevistas e imagens, muitas imagens que ampliam nossos horizontes sobre essa linguagem instigante que é a fotografia. O assunto central é o coletivo fotográfico contemporâneo, um modelo que se diferencia de outros agrupamentos de fotógrafos anteriores. Para avivarmos as cores e os contornos dos coletivos contemporâneos, seguiremos a seguinte direção: a observação das características de outras práticas como agências e fotoclubes, a delimitação do cenário que envolve o desenvol-
vimento dos coletivos e o trabalho de alguns grupos, especialmente: a Cia de Foto, o Pandora e o Garapa.
Meu contato com a fotografia tem acontecido por diversos vieses, alguns muito distantes entre si, outros em paralelo. De repórter fotográfico na grande imprensa a professor em bacharelado de Fotografia, já acumulei trabalhos nos mercados publicitário e editorial, formei agência de fotografia, colaboro com ONGs e projetos socioculturais, dos quais destaco o GEMA e o FotoLibras, responsáveis por muito do meu aprendizado. Ao longo dessa vivência, pude observar de modo empírico o desenvolvimento de diversos fenômenos no campo da fotografia. Acompanhei o surgimento de vários coletivos e as primeiras discussões sobre eles, algo que para muitos não passava de uma moda passageira ou uma “jogada de marketing”. Uma alegação muito presente em festivais e debates sobre fotografia era de que esses novos grupos não tinham nada de diferente em relação às agências.
Ver o aparecimento de tantos grupos, o calor de discussões tão inflamadas no campo da prática e o brilho nos olhos dos alunos de graduação para essa temática foram os combustíveis desta obra. Por outro lado, muitos dos projetos dos quais fiz parte praticavam, de um modo ou de outro, um fazer compartilhado. Se na agência costumávamos muitas vezes priorizar a assinatura do grupo, nas experiências em educação o exercício conjunto é condição fundamental. Ou seja, a minha atuação como fotógrafo e educador foi permeada por um sentimento de grupo. Apesar do grande número de coletivos atuantes e de tantos trabalhos importantes por eles produzidos, esta temática ainda é objeto de poucas pesquisas no meio acadêmico. O ensino e a reflexão sobre fotografia no Brasil têm crescido muito nos últimos anos e este livro pretende contribuir na ampliação de fontes e referências para alunos e professores.
Os coletivos estão aí, seus trabalhos enchem páginas de livros e revistas, povoam paredes de museus e galerias, são assistidos na forma de audiovisuais em muitas plataformas na internet ou na televisão. Novos e velhos fotógrafos estão formando coletivos ou, pelo menos, consideram essa possibilidade. Se tratar desse assunto já pode trazer bons frutos no campo do pensamento e do conhecimento sobre fotografia, é possível também que a temática alcance o leitor por um viés mais prático e objetivo. A fotografia está presente em todos os setores da sociedade, em todos os níveis socioculturais e atinge todas as idades. São muitas as possibilidades de atuação colaborativa com base nessa linguagem, não apenas por meio do mercado mais comercial – como o fotojornalismo e a publicidade – mas também em ações de cidadania e responsabilidade social, educação e reflexão. Ao final do livro, o leitor encontrará as referências bibliográficas e também um apêndice com links para coletivos, agências, fotoclubes e outras informações que possam complementar nosso debate.
Em tempos de individualidades tão exacerbadas e em meio a um campo em que a vaidade anda de mãos dadas com o egocentrismo, pensar em coletivo é animador. Não apenas vivemos num mundo onde as preocupações se voltam para soluções individuais em detrimento do todo, como não podemos nos esquecer de que uma visão muito presente em relação à fotografia é o fato de ser comumente considerada como uma atividade solitária na qual se valoriza, de modo exagerado, a formação de celebridades, egos inflados. As práticas colaborativas não garantem resolver esse problema, mas podem contribuir para a discussão.
O que forma um coletivo não é um contrato, nem tampouco legislações e regras. São as ligações que dão forma aos coletivos, eles se fazem pelas relações entre seus componentes. A afetividade e o embaraçamento da participação de cada integrante na
fotografia que é produzida são ingredientes importantes nessa receita.
Isso tudo não chegaria ao ponto que chegou sem a colaboração dos Professores José Afonso da Silva Jr., Nina Velasco e Cruz, Paulo Cunha e Silas José de Paula, com suas contribuições e questionamentos ao longo do processo. Agradeço também aos integrantes dos coletivos estudados, que se dispuseram a colaborar com informações, que atenderam aos pedidos das entrevistas, que têm proporcionado tantas e tão amplas questões para o campo da fotografia. Em especial a Pio Figueiroa, Rafael Jacinto, Carol Lopes, João Kehl, Leo Caobelli, Paulo Fehlauer, Rodrigo Marcondes e Héctor Mediavilla. O subcapítulo sobre redes de criação foi estimulado por uma frutífera parceria com Isabella Valle. À revista Zmâla, que facilitou o acesso às suas publicações, bem como às instituições que acolheram e incentivaram a pesquisa que gerou esta obra: UFPE e Facepe.
PREFÁCIO
A FOTOGRAFIA E A NOOSFERA
Fazer em conjunto não é algo novo. É algo que renova. Muito antes do digital, da internet, das redes sociais e da ação coletiva em rede, Teilhard de Chardin, que nunca foi fotógrafo e nem alcançou a era dos computadores, lançou uma ideia singular, ao mesmo tempo, simples e forte e que ajuda a compreensão da lógica produtiva dos nossos dias. Chardin, que era filósofo, paleontólogo e padre jesuíta, desenvolveu a ideia de uma noosfera: uma camada de pensamento que integraria o pensamento em forma de rede, um campo imaterial que estaria justaposto sobre as outras esferas da vida na terra e daria, pelo pensar compartilhado e em conjunto uma das características do humano. Esse conceito nos ajuda a compreender, mais de 60 anos após a sua concepção, a prática contemporânea dos coletivos fotográficos. Em “O fenômeno humano”, é a noosfera que mantém a dinâmica criativa do próprio homem em relação ao prosseguimento de incremento de suas ações.
É o agir em rede, mais que as redes digitais que reposicionam o conjunto de práticas da fotografia na contemporaneidade. Agir em conjunto permite o reconhecimento, o pertencimento, o acolhimento e partilha de práticas do campo sensível. Isso desdobra, ao seu modo, as articulações entre conteúdos, abordagens e posturas da fotografia.
O trabalho de Eduardo Queiroga, que pode ser conferido a seguir, tem a precisão de dissecar a lógica articulatória e produtiva dos coletivos fotográficos contemporâneos fugindo das
ciladas mais comuns. A primeira delas, de aceitar a configuração do fenômeno como novidade. Isso é percebido e recuperado com um olhar atento e crítico, em três passos.
Primeiro, os coletivos fotográficos não surgiram após o digital. Eles possuem raízes tanto no campo das Artes Visuais, que depõem uma larga e densa lista de precedentes de coletivos de artistas. Segundo, a crítica envolve assumir uma oposição ao senso comum da fotografia que, ao longo do tempo, forjou a mitologia do fotógrafo como criador individual da obra. Terceiro, assume que disso resulta a formação de um discurso que, ao mesmo tempo, cristaliza os processos criativos ao redor de autores consagrados e aciona uma estratégia de silenciamento das ações em grupo que existem na história não hegemônica da fotografia.
Prosseguindo, o texto, fruto de uma pesquisa de mestrado realizada entre 2010 e 2012, no programa de Pós-Graduação da UFPE, tem o mérito de apontar as riquezas e singularidades que, isto sim, surgem das margens, com a configuração dos coletivos quando eles se chocam com a cultura contemporânea. Por meio desse prisma, pode se entender com mais clareza a contribuição deste trabalho: apontar o campo de pressões e possibilidades que os coletivos fotográficos acionam, pressionando os limites da fotografia de modo a transbordar em um conjunto de possibilidades, respostas estéticas, posturas e processos criativos que são apropriados de modo tático e estratégico.
De certo modo, o material pode ser lido como um texto político. No sentido de como determinado campo da fotografia se posiciona diante de questões clássicas. Onde existiria a lógica industrial de produção, temos a lógica dos bits; onde teríamos hierarquia, temos o rizoma, a ação entre pontos sinérgicos da trama; onde reinava o especialista, agora temos o compartilhamento; onde antes havia o sossego da obra acabada, agora existe a inquietude do processo.
Os coletivos fotográficos vestem no presente a roupa desenhada e descrita por Teilhard de Chardin: é sua ação coletiva, compartilhada e pertencente a um contexto amplo de produção que permite a emergência de respostas possíveis. É isso que colabora na compreensão deste complexo interminável que é o campo do visual e da fotografia. Ao seu modo, a proposição de um modelo de apropriação estratégica e tática nos ajuda a compreender as ações de agregar, deflagrar e dispersar como concepções presentes na fotografia.
Agregar para somar esforços diante de temas, abordagens e linguagens. Deflagrar processos de produção, visibilidade e pertencimento. Dispersar como exercício do desapego a modelos estáveis e zonas de conforto, ao passo que se buscam as novas articulações. Em resumo: entender que o jogo não acaba, está sempre recomeçando.
Desse modo, o conforto de certas posições, por exemplo, a do autor como lugar da criação individual, é permeado pelo processo de criação em rede e multivocal; as estratégias de financiamento, viabilização e distribuição exclusivas dos mediadores culturais clássicos e massivos, sofre os impactos de uma lógica todos-todos, pós-massiva, com alternativas, como o crowdfunding .
As resultantes possíveis do fenômeno repousam nessa aparente contradição: simultaneamente, os coletivos fotográficos contemporâneos prolongam a história da fotografia nesse eixo de práticas, recuperando elementos precedentes, mas ampliam e precipitam o jogo de possibilidades entre a fotografia e a lógica das redes. É como se o que daí emerge não pudesse ser entendido somente com os pressupostos até então existentes. Um mérito deste trabalho, entre outros, é precisamente situar na primeira década dos anos 2000 o cenário onde essas articulações se adensam. Isso nem significa que se aposta em um modelo, posto que
as apropriações se sucedem na direta medida em que se esvaziam noções como permanência e estabilidade; muito menos se tipifica este ou aquele caso como sendo de sucesso, ou menos ainda, uma ideia de ruptura.
A chave da compreensão tem em conta as negociações que, esta ou aquela prática levam ao transbordamento e atingem o percurso da fotografia. Isso permite recuperar a trilha de constituição dos coletivos como uma série de acumulações que se fixaram ou, ao contrário, não se atualizaram como uma tendência central ou hegemônica. Não significa, no entanto, que tal opção metodológica corresponda a ler determinado evento como atrasado ou arcaico: é exatamente o contrário. O texto permite ver o arcaico e o inovador em estado de igualdade no momento em que surgem e são elaborados. A efetivação de um ou de outro depende de um campo de forças que nem sempre está dado somente pela lógica da fotografia, mas sim emerge de uma dialogia com a cultura de uso que os cerca.
Ao mapear o modo de formação dos Coletivos Cia de Foto e Garapa, brasileiros, e do Pandora, este, espanhol, a pesquisa busca exemplos capazes, ao mesmo tempo, de condensar a discussão e expandir o alcance e a compreensão do cenário. Não se trata de olhar para esses casos, contudo, como sendo eles capazes de dar conta da totalidade das discussões, mas, sim, de permitir a elaboração de questões que iluminam a gênese atual dos coletivos.
Essa certamente é uma contribuição central do texto: permitir revisar de modo não cronológico ou triunfalista. Em vez disso, o enquadramento envolve recuperar os precedentes dialogando com a lógica de redes que alimentam o processo como um todo. Ao mesmo tempo que muda o cenário, permite que continuemos olhando a fotografia como algo que se renova e continua a reivindicar seus lugares na sociedade e cultura contemporâneas. Atua-
lizando as respostas visuais para as mesmas pressões que geram as inquietações. Afinal, a lógica é do percurso e não a da estática. Nos movemos, observamos, vivemos em conjunto. Teilhard de Chardin, não veria nada de estranho nisso.
José Afonso Jr. Professor e Pesquisador. PPGCOM-UFPE.
1
CAPÍTULO 2 O CENÁRIO
CAPÍTULO 3 O
INTRODUÇÃO
São muitas as razões que nos levam a produzir um trabalho e grande parte dessas razões está além de nossas intenções conscientes
Lúcia Santaella
A concepção de uma união de indivíduos que compartilham ideias, espaço, estrutura de produção, ou simplesmente trocas simbólicas e afetivas não é algo novo. Sua história remonta à época logo após a Revolução Francesa, tendo no grupo conhecido por Boémia um dos principais exemplos. Eram pintores, escritores e outros artistas que levavam uma vida diferente da sociedade que estava se consolidando naquele momento de crescimento das cidades, de fortalecimento dos ideais modernos. Esse grupo que tentava ficar à margem do comportamento burguês foi o responsável pelo sentido da expressão “vida boêmia” que usamos até hoje, que nos remete ao gosto pela música, pela poesia e pela noite.
De lá para cá, muitos movimentos seguiram caminhos parecidos, agrupando poetas, músicos, atores e artistas visuais. Muitos deles com um caráter político muito bem definido. Não são poucos os coletivos artísticos – contemporâneos e também do século XX – cuja postura ativista produz uma obra que se confunde com um ativismo mais direto, seja na crítica ao Estado, seja à própria arte e suas estruturas e instituições. Para Claudia Paim, “atuar coletivamente já é uma postura política”1, é algo que se contrapõe ao estabelecido. Mesmo que a fotografia, juntamente com outras imagens técnicas, tenha sido abraçada por diversos desses
1 PAIM, Claudia. Táticas de artistas na América Latina: coletivos, iniciativas coletivas e espaços autogestionados. Porto Alegre: Panorama Crítico Ed., 2012, p. 23.
grupos artísticos, somente mais recentemente vemos, com maior intensidade, o surgimento de coletivos no campo fotográfico. São os coletivos fotográficos contemporâneos, que não devem ser confundidos com outras práticas antecedentes como agências e fotoclubes, entre outras.
Para alguns campos do fazer comunicacional e artístico, a prática coletiva é imperativa. É o caso do cinema, do teatro, da dança: linguagens em que é difícil imaginar produções inteiramente individuais, pois demandam especialidades, tarefas específicas e, até mesmo, maior quantidade de mão de obra. Isso também é percebido em produções para televisão, que envolvem equipes – pequenas ou grandes, mas sempre equipes. A atuação há mais tempo dos coletivos de artes visuais também coloca essa discussão muitas vezes no escaninho dos assuntos ultrapassados. É interessante observar, no entanto, que tal atuação ocorre de maneira marginal ao mercado de arte, tanto pela postura crítica e consciente, como pela falta de espaço para tais grupos nos mecanismos e instituições, algo que, por si só, já poderia garantir o lugar desse tema na pauta da reflexão2. Ou seja, em diversas áreas o trabalho coletivo é algo natural ou naturalizado. Em alguns casos o grupo se junta para dividir tarefas ou estrutura. Em outros, busca um compartilhamento de todo o processo, de um resultado comum, sem distinção dos integrantes.
Na fotografia, a discussão adquire nuances distintas. Nesse campo até mesmo a presença do sujeito ou o seu reconhecimento no ato fotográfico foi alvo de opiniões e defesas que passaram longe de uma unanimidade. Ao longo de toda a história da fotografia, o lugar do sujeito na linguagem nunca foi um consenso,
2 Não há unanimidade no reconhecimento do fazer coletivo no campo das artes plásticas. Muitos coletivos artísticos afirmam sofrer discriminação. Ver o dossiê na Revista Dasartes, disponível em http://dasartes.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id= 101&Itemid=33.
já mudou de acordo com os mais diversos interesses3. Se a subjetividade é colocada em questão – ou simplesmente e categoricamente deixada à margem –, perceber um fazer coletivo traz camadas suplementares de indefinições e consequentes necessidades de negociações. O coletivo fotográfico, portanto, traz questões importantes para a reflexão sobre a fotografia na atualidade, que vão além do conhecimento de um modelo de trabalho e de suas especificidades, mas contribuem, também, para um alargamento dos horizontes possíveis a esta linguagem.
O coletivo fotográfico contemporâneo tensiona a fotografia e observá-lo nos faz enxergar de modo diferente essa linguagem. Alejandro Castellote compara o coletivo a uma plataforma de lançamento, uma estratégia de visibilidade que funciona para impulsionar a carreira dos fotógrafos, inclusive do ponto de vista mais individual4. É verdade que a união de forças e a dinâmica desses grupos podem ser muito bem aproveitadas como catapulta para os trabalhos, mas a prática de vários grupos aponta para um leque maior de possibilidades. O debate passa por uma estratégia, que pode ser de visibilidade em uns casos, de sobrevivência em outros, mas, também, de criação e reflexão. A fotografia não passa incólume pela existência dos coletivos.
O estudo da fotografia é algo relativamente recente. Somente nas últimas décadas do século XX surgiu uma série de livros, que se tornaram clássicos e ontológicos da reflexão e estudo sobre fotografia. Antes disso existiram contribuições importantes, algumas delas citadas no atual estudo – ver bibliografia. Mas só no final do século XX é que o volume torna-se realmente significativo, a ponto de podermos encarar a fotografia como campo de teoria. Ao longo desses anos, o interesse
3 ROUILLÉ, André. A fotografia entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.
4 CASTELLOTE, Alejandro. New times, new images In CARRERAS, Claudi (Org.). Labyrinth of views. Barcelona: Editorial RM, 2009. p. 279.
vem aumentando, assim como o corpo de publicações, teses, artigos e eventos dedicados à linguagem. O número de pesquisas e assuntos pesquisados acompanha esse crescimento, mas ainda são poucos os registros que tratam da produção compartilhada. Este livro se propõe a contribuir no preenchimento de tais lacunas, o que, em termos práticos, significa uma maior dificuldade na coleta de dados, uma vez que não existem muitas fontes disponíveis que tratem diretamente do objeto. Por isso, foi necessário um esforço num movimento centrípeto de tentar atrair temas periféricos para elucidar o objeto que está no centro de nossos interesses: o coletivo fotográfico contemporâneo. Para falar dos coletivos, deveremos investigar e traçar articulações com outros campos e assuntos circundantes. Rizoma, criação em rede, cibercultura, inteligência coletiva e autoria são alguns desses conceitos e temáticas que abordaremos em articulação com a fotografia. Em alguns momentos precisaremos desviar um pouco o nosso foco para buscar aproximações que sejam esclarecedoras das premissas abordadas.
Não seria correto, em tempos de convergência, de pós-modernidade, de articulações em rede e hibridações, tentar compartimentalizar os espaços, os processos. Há uma crescente interconexão, na qual as barreiras estão sendo derrubadas ou simplesmente estão ficando mais porosas. Há uma possibilidade de mistura dos conteúdos antes separados hermeticamente. Sem deixar de levar isso em conta – na verdade, sem deixar de acreditar nisso como algo importante –, priorizaremos algum recorte, na medida em que aumentar o contraste entre campos ou funcionalidades se mostre como melhor caminho metodológico para tratar as questões aqui levantadas. Ou seja, enxergaremos melhor alguns aspectos específicos, importantes para a discussão, quando ampliarmos alguma diferença entre eles e definirmos melhor os limites de cada um. A fotografia abarca uma grande diversidade de usos, aplicações e relações. Serve aos obje-
tivos mais distintos e possibilita vivências variadas. É um retângulo de papel fotográfico, é uma linguagem, é uma técnica. Está presente no álbum de família, na galeria de arte, no jornal e no inquérito policial. É importante que separemos, em alguns momentos, essas especificidades.
Mas fica desde já o alerta de que não devemos defender um mundo de fronteiras tão demarcadas, com diferenças tão inviabilizadoras de toda uma gama de possibilidades que as misturas ocasionam. Não haveria sentido em falar de processos coletivos e defender segregações num mesmo texto. Quando for preciso então tratar de delimitações, trabalharemos com as seguintes distinções: fotógrafo e artista; arte e comunicação. Embora em alguns momentos as fronteiras não sejam tão definidas, em outros nós invadiremos terrenos vizinhos propositadamente em busca de conceitos que possam trazer um melhor entendimento das questões colocadas. É importante delimitar de que fotografia queremos tratar prioritariamente. Existe diferença entre a fotografia feita pelo artista e a arte feita pelo fotógrafo? Mesmo que os resultados das duas situações sejam fotográficos, veremos que nesta obra estaremos, em grande parte, envolvidos, preocupados com o processo, muito mais que com a técnica ou com o produto final. Sendo assim, existem delimitações entre a fotografia feita pelo fotógrafo – mesmo que do campo da arte – e o artista: aqui estamos falando de formação, de ligações culturais que estão presentes até mesmo na autorreferencialidade. André Rouillé insiste nessa diferenciação afirmando que “o fotógrafo é o herdeiro de uma cultura e de uma ética visual e profissional”, ressaltando, dessa forma, que nem todos que fotografam são fotógrafos5. Entendemos que a distinção passe por um trabalho – consciente ou inconsciente –
5 ROUILLÉ, André. Fotografia e arte contemporânea. In: FATORELLI, Antonio (Coord.). Fotografia e novas mídias. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / Fotorio, 2008.
sobre a linguagem. Para Rouillé, existe uma terceira categoria, a da arte-fotografia, assim com hífen no sentido de ser uma liga, de ser um produto terceiro da junção de dois elementos: ele vai buscar na ideia de liga metálica, de dois metais que são misturados para formar um diferente, novo.
Sem querer estender muito esse ponto, porém considerando importante deixar mais clara essa diferenciação, existem os artistas que usam a fotografia como suporte ou material do seu trabalho, mas que a utilizam a partir de um cabedal acumulado no campo da arte. A contemporaneidade traz uma hibridação entre os campos e não queremos aqui nadar contra a correnteza ou assumir posição conservadora em relação a uma mistura entre linguagens. O intuito de separação é apenas metodológico para alcançarmos as questões que consideramos mais ricas e importantes.
Se fôssemos resumir nossa busca em uma pergunta, uma sentença que dê um rumo das próximas páginas, certamente seria: como e por que são formados os coletivos fotográficos contemporâneos? Ou seja, o que nos leva a pensar que os coletivos se sustentam como um modelo distinto de outros agrupamentos e o porquê disso acontecer. Necessitamos, então, investigar o lugar do sujeito na fotografia, pois não é possível pensar um sujeito coletivo sem antes entender como se dá a relação entre subjetividade e objetividade numa linguagem tão marcada pela técnica, automaticidade e mecanicidade. E ver, também, a necessidade de contornar uma outra dificuldade, pois, por muito tempo, mesmo após o reconhecimento do sujeito na fotografia, mesmo quando içado à condição de autor, isso se dava apenas de maneira individual.
Passaremos por algumas experiências de “indivíduos” vivenciadas por grupos de fotógrafos e por grupos que continuaram sendo fotógrafos individuais. No primeiro caso, são obras que,
por motivos diversos, estão ligadas a um nome, embora sejam fruto de iniciativas colaborativas. Na outra ponta, faremos um levantamento, delimitação e exemplificação de alguns dos mais importantes agrupamentos de fotógrafos, na busca por identificar suas principais características, que consideramos cruciais na comparação com os aspectos observados nos coletivos contemporâneos. Estudaremos as agências fotográficas, os fotoclubes e o Farm Security Administration (FSA). É possível falarmos num modelo que traz diferenças em relação a outras iniciativas? Existe mesmo um novo modelo ou trata-se de um nome novo para uma prática antiga? O primeiro capítulo traz, então, os antecedentes de pesquisa: o indivíduo e o grupo nas práticas fotográficas. Um outro caminho que percorreremos segue na direção da investigação sobre o cenário que propicia e influencia o surgimento dos coletivos contemporâneos. A fotografia não é mais a mesma, assim como a sociedade. O segundo capítulo traz uma articulação conceitual e teórica, cujo objetivo é nos permitir visualizar os diferentes aspectos presentes no atual cenário de convergência, articulação em rede, criação coletiva e novas tecnologias e como isso estimula ou influencia as possibilidades associativas. Tais aspectos presentes na sociedade mediada pelo computador não fundaram as práticas colaborativas, obviamente, mas potencializaram as possibilidades de interação. A digitalização tem operado mudanças não apenas do ponto de vista técnico, mas toca diretamente o modelo de visualidade de nossa sociedade.
Um desafio aqui encontrado foi o de trazer conceitos que consideramos realmente úteis para a compreensão do fenômeno nas suas várias articulações sem que, no entanto, nos deixássemos tomar um infindável número de possíveis ramificações. Como veremos, numa confirmação de diversos pontos levantados ao longo do trabalho, há uma imbricação de questões: novas ligações se formam a todo instante. Alguns dos caminhos que surgem são
muito instigantes, mas precisamos em vários momentos limitar o alcance de nossos percursos, ou nos arriscaríamos a sair completamente do rumo. Se é um capítulo mais denso, com um cabedal mais concentrado de conceitos e autores, é porque avaliamos ser de suma importância a articulação com tais teorias e reflexões.
Uma vez preparado o terreno, entraremos mais diretamente na caracterização e análise dos “coletivos fotográficos contemporâneos”. Essa denominação traz em si alguns problemas6. A decisão de usá-la parte do fato de ser um termo que já aparece no campo da prática. Ou seja, optamos pela apropriação de um termo já existente e utilizado em alguns círculos, porém ainda sem maiores delimitações. Se fizemos ao longo de todo o texto a escolha pela terminologia, precisamos deixar claro que ele deve ser entendido no conjunto e nas suas relações com o meio. Vejamos as contradições que podem ser levantadas e que comumente o são em instâncias cotidianas ou empíricas. O termo “coletivo” permite confusões com outras formas colaborativas de fazer fotografia. Não seriam as agências também coletivos de fotografia? Não necessitamos de muita pesquisa para encontrar um sem número de argumentações, em geral em oposição aos coletivos contemporâneos, que seguem este raciocínio. Este tipo de confusão é bastante recorrente, afinal uma agência fotográfica como a Magnum, entre tantas outras, reúne uma série de fotógrafos, chegando a inspirar o surgimento de muitos outros grupos. Veremos que até mesmo alguns grupos se utilizam de um ou outro termo para se autorreferenciarem, mudando de abordagem com o passar dos anos, reconhecendo-se mais num
6 A partir deste ponto do texto, a palavra coletivo será usada apenas em relação ao modelo que aqui estamos estudando. Seria inviável sempre que tratássemos deste modelo usar o termo inteiro (coletivo fotográfico contemporâneo). Sendo assim, quando nos referimos a outras formas coletivas, usamos expressões como ‘grupos’, ‘iniciativas’ etc. A palavra “coletivo” sendo usada isoladamente e fazendo referência a um grupo ou modelo deve ser subentendida na sua ligação com a prática estudada nesta obra apenas, a menos que o contexto da passagem, numa citação por exemplo, conduza ao significado mais geral.
ou noutro espaço. No entanto, observaremos que os processos coletivizados nesses casos estão restritos à comercialização das obras, ao compartilhamento de infraestrutura ou à organização política, não atingindo o fazer fotográfico propriamente dito.
O termo “contemporâneo” traz em si algumas dificuldades ou, como bem nos lembra Ronaldo Entler, pode ser problemático pelos seus contornos escorregadios7. Tais dificuldades não dizem respeito à sua etimologia, que pode ser delineada com tranquilidade. O Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa traz alguns significados para o verbete. Primeiramente, “que ou o que viveu ou existiu na mesma época”, ou seja, que compartilham um mesmo tempo. Duas coisas são contemporâneas entre si quando pertencem a um mesmo tempo. Nesse sentido é impossível dizer que algo é contemporâneo em si8, significa estar em um tempo ou época comum ao outro: duas pessoas podem ser contemporâneas – ou seja, habitam o mesmo tempo uma da outra. Num outro significado, ainda do dicionário, “que ou o que é do tempo atual”, atualiza a primeira acepção, aquilo que vive na mesma época que o leitor. Aponta para uma relação ao presente atual: quando dizemos que algo é contemporâneo a nós, seja alguém ou algum fenômeno, estamos nos referindo ao fato de que ele existe agora, neste tempo ou nesta época em que estamos. Um terceiro conceito seria o que é relativo ao período da história mundial, que, por convenção, teria início com a Revolução Francesa.
Não podemos perder de vista essa relação de comunhão com um mesmo tempo, mas é necessário operar um deslocamento quando tratamos de fotografia contemporânea, arte contemporânea ou tantos outros – e frequentes – usos que são dados
7 ENTLER, Ronaldo. Um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea. In: A invenção de um mundo (catálogo de exposição). São Paulo: Itaú Cultural, 2009.
8 ARAUJO, Camila Leite de; CRUZ, Nina Velasco. Transcendendo o cotidiano: uma análise das fotografias de família produzidas pela Cia de Fotos no Flickr. XXXIV. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2011.
a essa palavra. Giorgio Agamben, cujo ensaio “O que é contemporâneo?” retoma uma lição inaugural de curso9 e inicia a discussão afirmando que é necessário sermos “contemporâneos dos textos e dos autores” que examinamos10. O autor passa por Barthes – “o contemporâneo é o intempestivo” – e Nietzsche para elencar um primeiro raciocínio:
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo11
Agamben nos alerta que tal anacronismo não remete àquele saudosista ou nostálgico que vive num tempo passado, àquele que vive com os olhos voltados para uma época que já se foi. “Um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo”12. Arremata:
A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não podem manter fixo o olhar sobre ela13
9 Lição inaugural do curso de Filosofia Teorética 2006-2007 junto à Faculdade de Arte e Design do IUAV de Veneza.
10 AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. p. 57.
11 AGAMBEN, 2009, p. 58.
12 AGAMBEN, 2009, p. 59.
13 AGAMBEN, 2009, p. 59.
É neste sentido que utilizamos o termo “contemporâneo”. Um contemporâneo como postura, como descontinuidade, um deslocamento que se opera na maneira como se relaciona com o tempo presente. Não estamos aqui utilizando seu significado temporal, mas conceitual. Não significa que todas as formas de produção fotográfica atuais estejam abarcadas no nosso estudo e na conceituação de que pretendemos dar conta. Estamos nos apropriando de um termo já utilizado empiricamente – o do “coletivo fotográfico contemporâneo” –, mas devemos entender que ele nos remete a um conceito específico que vai além dos conceitos isolados de cada palavra que o compõe. Quando falamos de “coletivo fotográfico contemporâneo”, estamos nos referindo a um modelo específico, objeto de nosso estudo e cuja delimitação e investigação é o objetivo deste trabalho. O uso de palavras como moderno ou pós-moderno também acompanham essa abordagem, levando em conta as camadas de significação que vão além de sua conceituação temporal-cronológica. Para falar de tempo, usaremos termos como atualidade ou nos referiremos a anos ou épocas.
Na busca por afinar nosso foco sobre o fenômeno estudado, traremos uma comparação mais detalhada com as práticas precedentes, estudadas no primeiro capítulo. Acreditamos que tal resgate muito nos facilitará no esforço por melhor entender o fenômeno. O rizoma de Deleuze e Guattari14 certamente é o conceito que melhor se relaciona ao fenômeno dos coletivos e é também o maior inspirador para este estudo. Muitas novas ligações e rupturas podem surgir a partir daqui. Buscamos articulações com diversos autores, conceitos e experiências com o desejo de melhor perceber como e por que são formados os coletivos. Empreenderemos esforços em várias direções e traremos
14 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 1. Tradução de Aurélio Guerra Neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 1995.
para a discussão diversas ideias importantes para tal empreitada. Mas sabemos da impossibilidade de esgotar um tema que se constrói valendo-se de reconfigurações e de misturas.
Nesta conjuntura, as aberturas a novas ligações são mais importantes, as questões podem ser mais ricas que as respostas, a busca e o caminho serem tão bonitos quanto o destino. Assumimos as possibilidades de linhas de fuga como parte do processo.
INDIVÍDUOS E GRUPOS NA FOTOGRAFIA
La historia de la fotografía puede ser contemplada como un diálogo entre la voluntad de acercarnos a lo real y las dificuldades para hacerlo. Joan Fontcuberta
Ao contrário do que pode parecer aos mais desavisados, diante do grande número de grupos produzindo e expondo seus trabalhos nos mais diversos meios, para alcançar uma possibilidade coletiva, a fotografia teve de enfrentar primeiramente dois entraves. Dificuldades construídas, desenvolvidas, mas que nem por isso são desprezíveis. Existem dois argumentos muito comumente defendidos que atrapalham a ideia de uma fotografia coletiva: a defesa de uma técnica automática e não mediada, por um lado, e a individualidade, por outro. Maneiras de pensar e enxergar a linguagem que ainda povoam muitos entendimentos atuais, principalmente no senso comum, mas não apenas nele. Toda iniciativa coletiva na fotografia significa, por si só, contrapor-se a tais argumentos. Mesmo que inconsciente disso, o fazer coletivo atua numa revisão de convicções caras à construção social da fotografia. É necessário primeiro vencer a ideia de objetividade para depois contornar a defesa de um fazer individual.
A fotografia, por si só, não pode ser tomada como uma linguagem mais ou menos objetiva, ao contrário do que aconteceu ao longo de sua história. Não é a técnica ou o aparato que vai trabalhar em tal delimitação. Algo que nos parece claro hoje, mas veremos que a abertura para a participação do homem,
para sua valorização no ato fotográfico não foi o entendimento dominante. Pelo contrário, a fotografia ganhou espaço e importância por meio da defesa da condição de “espelho do real” ou de produto de uma máquina. Veremos como o alinhamento aos preceitos industriais e modernos, que durou cerca de um século, trouxe dividendos à fotografia. A ligação direta com o referente, a transparência da fotografia, seu valor indicial será destacado por estudiosos importantes para a teoria da fotografia, ainda nas últimas décadas do século XX, algo – essa aderência ao referente15 – pertencente à sua natureza mais elementar. Se a existência de um sujeito no processo foi muitas vezes contestada, precisamos primeiro esclarecer como se dá a relação – até mesmo a simples aceitação – de subjetividade, para depois podermos avançar numa ampliação que envolve um fazer em grupo. Voltaremos, então, aos princípios do que conhecemos por fotografia e até mesmo um pouco antes do seu surgimento.
De lá para cá, ao longo desse período, a história da visualidade – e aqui vamos tratar com mais ênfase da fotografia – passou por momentos em que a subjetividade era mais ou menos valorizada. Num movimento pendular, ora a fotografia era defendida como uma técnica objetiva, ora se tentava valorizar e destacar a importância do homem na produção da obra fotográfica. “Dependendo da época, das circunstâncias, usos, setores ou dos profissionais envolvidos, era um ou outro aspecto que prevalecia”16. Ainda hoje, não raro, nos deparamos com referências mais fortes ao dispositivo do que ao fotógrafo, como responsáveis pela imagem final.
A câmara obscura tem os seus princípios ópticos conhecidos desde mais de 2 mil anos atrás. Aristóteles, Leonardo da Vinci e Kepler, entre outros, especularam sobre o fenômeno que projeta no fundo de uma caixa escura, uma imagem invertida da cena exterior,
15 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
16 ROUILLÉ, 2009, p.27.
proporcionada pela luz que atravessa um pequeno orifício. Mas, foi na Idade Média que a câmara obscura se popularizou, não apenas como uma experiência óptica, mas como um aparato de entretenimento, um instrumento de auxílio a desenhistas e pintores, ou, mais importante, modelo de visualidade. Entre os séculos XVI e XVIII, a câmara obscura assume importância ao delimitar e definir as relações entre observador e mundo. Ela não é apenas um entre vários instrumentos ou opções visuais. Mais que isso, a câmara obscura produz uma operação de individualidade, definindo o observador como “isolado, fechado e autônomo em seu confinamento escuro, retirado do mundo”17. Dessa forma esse aparato cumpre uma função decisiva de separar o ato de ver do corpo físico do observador, de descorporificar a visão.
Com a câmara obscura, passa-se a entender que a imagem – sempre ligada ao olho, que sempre foi percebida como uma função fisiológica – pode ser formada independentemente do sujeito. Ela estará lá, projetada no fundo da câmara, estando ou não o observador no seu interior. Jonathan Crary cita experiência sugerida por Descartes em sua “Dioptrica”, em que um olho de um homem recém-morto – na falta deste, de um boi ou de outro animal de grande porte – deve ser retirado do seu corpo e posicionado no furo da câmara obscura18. Descartes detalha os procedimentos para adaptar o globo ocular ao dispositivo e afirma que um olho morto e até mesmo de um boi, separado de seu corpo, projetará imagens no interior da câmara escura: a imagem como formação mecânica, não mais dependente de um organismo vivo ou humano.
No início do século XIX, ainda antes do surgimento da fotografia, Goethe utiliza a câmara obscura numa outra experiência. Nela, um observador fixa seu olhar sobre o círculo de luz
17 CRARY, Jonathan. Techniques of the observer. Cambridge: MIT Press, 1990.
18 CRARY, 1990, p. 47.
que entra pelo furo da câmara. Em seguida o furo é fechado e o olhar permanece voltado para a parte escura. O que se forma é uma imagem circular, inicialmente amarela e depois avermelhada. Uma imagem não projetada na caixa, mas criada pelo organismo do observador. Essa experiência óptica descrita por Goethe aqui apresenta uma noção de visão que o modelo clássico é incapaz de explicar. A subjetividade corporal do observador, que havia sido excluída no conceito da câmara obscura, torna-se primordial na condição de observador. As experiências trabalham uma ideia de separação entre imagem e observador. A imagem do mundo é formada independentemente do observador, assim como a imagem se forma no interior do observador independentemente do mundo exterior.
1.1 Objetividade
O embate entre objetividade e subjetividade, a máquina versus o homem, dura até os dias de hoje e não foi inaugurado pela fotografia, como bem pudemos perceber nos exemplos anteriormente citados. Mas a fotografia alimentou esse debate e foi fortemente influenciada por ele. Ela surge num momento de alinhamento com a modernidade. É sincrônica ao aparecimento das grandes cidades, da industrialização, da serialização das coisas – não apenas dos objetos, mas dos procedimentos, das ideias, etc. Os modernos operam uma anulação da subjetividade em nome do desenvolvimento, do progresso. A fotografia responde a esses anseios e os reforça. Surge na esteira de um movimento que enxergava na retirada do homem a causa para o aumento da eficácia e da exatidão. Aos olhos daquele momento, a máquina demonstrava mais perfeição do que o inexato da mão humana. Os caminhos a serem percorridos respondem a necessidades e possibilidades – ou limitações – de cada época.
Como nos lembra Gisele Freund, “qualquer invenção é condicionada, por um lado, por uma série de experiências e conhecimentos anteriores e, por outro, pelas necessidades da sociedade”19. Mais importante do que a existência de uma tecnologia é o uso social que é dado a ela: como a sociedade responde, interpreta e se apropria de uma invenção, que vem como resposta a necessidades diretas de cada época. Vilém Flusser toca neste aspecto por outro viés. Para ele, existem duas classes dividindo a sociedade: “os que usam as máquinas em seu próprio proveito e os que funcionam em função de tal proveito”20. Cada momento histórico traz consigo problemas e questionamentos que exigem soluções novas.
Em 1786, uma invenção que fez muito sucesso foi o fisionotraço21. Consistia num aparato que, se utilizando de braços pantográficos, possibilitava a produção de imagens de perfis com considerável rapidez e fidelidade. Mais um exemplo de um anseio mecanicista, matemático e de produção em série da sociedade europeia do final do século XVIII. O fisionotraço é precursor da fotografia tanto como sistema de reprodução múltipla como pelas suas pretensões de oferecer uma verdade mecanicamente transcrita, uma garantia de autenticidade. A busca por uma objetividade mecânica terá um papel fundamental na forma como a fotografia irá se estabelecer, a começar pelo anúncio de sua invenção.
O ano 1839 figura de maneira hegemônica como a data de invenção da fotografia. Sabemos, no entanto, que esse não foi o momento propriamente dito da criação desta técnica, mas do anúncio pelo governo francês da compra da patente do daguerreótipo, um dos processos pioneiros de fixação de uma
19 FREUND, Gisele. Fotografia e sociedade. Lisboa: Vega, 1995, p. 37.
20 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 21.
21 FREUND, 1995, p. 28.
imagem formada a partir da exposição à luz, ao sol. Naquele momento havia várias pesquisas em andamento nesse sentido. Na verdade, a ação da luz sobre determinados compostos, como o escurecimento dos sais de prata, já era conhecido e experimentado há muito tempo. A busca se dava, em geral, pela técnica que permitisse que esse escurecimento fosse interrompido e que a imagem resultante fosse durável. O que Louis Daguerre conseguiu naquele ano, mais do que a invenção propriamente dita do processo que fazia referência ao seu nome, foi negociar a patente com a França, em troca de pensão vitalícia para ele e para a família de seu sócio, Niepce, já falecido àquela altura. O anúncio, que marcou o início da história oficial da fotografia, aconteceu amparado pela Academia de Ciências, que destacava o lado objetivo, maquínico de tal invenção.
Essa história poderia ser contada de outros pontos de vista. Geoffrey Batchen relacionou um total de 20 “protofotógrafos”, como ele chama esses muitos outros inventores: “como autores e experimentadores produziram uma volumosa coleção de aspirações cujo objetivo desejado era em todos os casos um certo tipo de fotografia” 22. O autor chama a atenção para o fato de que esta lista poderia ser muito maior, visto que os registros históricos possuem muitas lacunas e nem tudo foi documentado ou sua documentação resistiu ao tempo. Uma história distinta poderia ter sido contada, por exemplo, pela visão de um outro inventor da época, também francês, chamado Hippolyte Bayard, que já havia chegado a resultados concretos na sua busca por fixar uma imagem formada com base em um material sensível à luz. O processo de Bayard produzia imagens em positivo, semelhante ao que outro pesquisador, na Inglaterra, Henry Fox
22 BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos: la concepción de la fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004, p. 55.Tradução livre para “como autores y experimentadores produjeron una voluminosa colección de aspiraciones cuyo objectivo deseado era en todos los casos un cierto tipo de fotografía”.
Talbot, veio a registrar com o nome de talbótipo: grosso modo , num processo negativo-positivo, imagens poderiam ser reproduzidas em papel emulsionado, num método mais semelhante ao que conhecemos como fotografia analógica do que o daguerreótipo, que era uma placa metálica, de difícil sensibilização e manipulação, além de impossível reprodução. As placas de daguerreótipo “precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse reconhecer, sob uma luz favorável, uma imagem cinza-pálida. […] Não raro, eram guardadas em estojos, como joias” 23. Ou seja, 1839 não marca a invenção da fotografia, mas, mais propriamente, o anúncio pelo governo francês de um processo em detrimento de vários outros que aconteciam paralelamente. Vale lembrar que até o Brasil teve sua contribuição a dar nessa pluralidade, com as pesquisas do franco-brasileiro Hercules Florence, reconhecido hoje como a primeira pessoa a se utilizar do termo “photographie”, em 183324
O intuito de fazermos esse resgate histórico é, apenas, o de clarear algumas relações que influenciam o surgimento e valorização de determinados fenômenos em detrimento de outros; é o de percebermos, reforçarmos como o cenário de uma época propicia o surgimento de algumas tecnologias, que, ao mesmo tempo, num processo dialógico, passa a estimular esse mesmo ambiente social. Se a fotografia carrega até hoje um peso de objetividade, isso pode ser em parte explicado pelo discurso que defendia a nova invenção como traço do real, como ausência do homem, algo consonante com os ideais de modernização e industrialização vigentes em meados do século XIX, que acreditava que a máquina trazia mais exatidão e eficiência aos processos de produção. Veremos, mais adiante, que esse entendimento ganha
23 BENJAMIN, Walter. Pequena história da fotografia. In: Obras Escolhidas – Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
24 KOSSOY, Boris. Hercules Florence - 1833 - a descoberta isolada da fotografia no Brasil.2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1980.
reforços de outras naturezas, por exemplo, um viés que teoriza valendo-se da relação com o referente. Naqueles tempos iniciais, no entanto, a fotografia ganhou espaço quando foi oferecida como espelho do real, como imagem produzida diretamente pelo sol, sem a interferência do homem.
Alguns, como Niépce, descreveram por escrito seu desejo como “a cópia das visões da natureza” ou como “uma imagem fiel da natureza”. Daguerre se referiu mais ambiguamente à “reprodução espontânea das imagens da natureza projetadas na câmara obscura” e, posteriormente, à “reprodução espontânea das imagens da natureza projetadas mediante a câmara obscura”. Florence buscava “desenhos feitos pela natureza”, enquanto que Talbot descrevia seu procedimento como “desenho fotogênico ou a natureza pintada por si mesma”25.
O primeiro livro de fotografia da história, de Fox Talbot, traz essa referência já em seu título, The pencil of nature : as calotipias ali presentes foram impressas pela natureza, não são obra da mão de um desenhista ou gravurista. Se grande parte dos manuais credita a Daguerre a invenção da fotografia, isso se deve ao fato de que houve uma polarização dos dois processos, um se aliando mais às ciências e o outro, às artes. A ciência defendia Daguerre e a Academia de Belas Artes se alinhava a Bayard. Surgiu o embate entre a precisão científica e o indefinido dos contornos artísticos, entre o metal e o papel, o ofício e a criação, a utilidade e a curiosidade26.
25 BATCHEN, 2004, p. 66. Tradução livre para: “Algunos, como Niépce, describieron por escrito su deseo como “la copia de las visiones de la naturaleza” o como “una imagen fiel de la naturaleza”. Daguerre se refirió más ambiguamente a “la reproduccíón espontánea de las imágenes de la naturaleza proyectadas en la cámara oscura” y, posteriormente, a “la reproducción espontánea de las imágenes de la naturaleza proyectadas mediante la cámara oscura”. Florence buscaba “dibujos hechos por la naturaleza”, mientras que Talbot describía su procedimiento como “dibujo fotogénico o la naturaleza pintada por sí misma”.
26 ROUILLÉ, 2009.
Os dois discursos, as duas defesas coexistiram num mesmo tempo, mas uma delas, a da objetividade, teve mais força por conta dos anseios vigentes. Bayard nos deixa um documento dessa disputa “perdida” pelo campo da arte. Ele protagoniza um episódio que inaugurou o autorretrato fotográfico e que jogava com o peso da representação nesta linguagem que surgia. Já naquele momento, o valor de prova da fotografia é posto em questão. Bayard faz circular por Paris um retrato onde ele aparece fingindo-se afogado. No verso, um texto27 relata que aquele cadáver que vemos é o do Sr. Bayard, criador da técnica que temos em mãos, inventor engenhoso, vítima de uma injustiça pela Academia, que reconheceu e pagou muito a Daguerre, mas disse não poder fazer nada por Bayard, que até chama a atenção para o fato de que a cabeça e as mãos já começam a apodrecer – aparecem mais escuras na imagem. Bayard se sente depreciado, afogado economicamente. O processo criado por ele não era menos científico ou mais artístico, mas, no que se estabeleceu uma polarização, os argumentos que se seguem direcionam para um ou outro polo. “Cada tecnologia suscita questões relativas à sua consistência enunciativa específica que, em última instância, se articula com a produção discursiva de uma sociedade num determinado momento”28 .
27 “Le cadavre de monsieur que vous voyez ci-derrière est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près trois ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s ´occupait des perfectionements de son invention. / L´Academie, le roi et tous deux qui ont vu ses dessins, que lui trouvait impartaits, les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui a fait beaucoup d´honneur et ne lui a pas valu un liard. Le gouvernament, qui avait beaucoup trop donné à M. Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour M. Bayard et le malhereux s´est noyé. Oh! Instabilité des choses humaines! Les artistes, les savants, les journaux se sont ocupes de lui pendant longtemps et aujourd´hui qu´il y a plusieurs tours qu´il est exposé à la morgue, personne ne l´a encore reconnu, ni réclamé. Messieurs et Dames, passons à d´autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la tête du monsieur e ses mains commencent á pourrir, comme vous pouvez le remmarquer” (FRIZOT apud ALBARRÁN, Juan. Mise em scène: fotografía y escenificación em los albores de la modernidad. In Discursos Fotográficos v.6, n.9, p. 193-209, jul/dez 2010. Londrina: UEL, 2010).
28 PARENTE, André (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. 2. ed, São Paulo: Ed. 34, 1996. p. 15.
São muitas as qualidades dessa nova invenção que podem ser alinhadas aos ideais vigentes em meados do século XIX.
A fotografia – que reproduz mais rapidamente, mais economicamente, mais fielmente do que o desenho, que registra sem omitir nada, que dissimula as imprecisões da mão, que, em resumo, troca o homem pela máquina – impõe-se imediatamente como a ferramenta por excelência, aquela que a ciência moderna necessita. E continuará sendo assim até a Segunda Guerra Mundial29 .
Daguerre, ao falar de sua criação, anunciava que “qualquer um pode tomar as visões mais detalhadas mediante um processo físico-químico que outorga à natureza a capacidade de reproduzir-se”30. Talbot, como já vimos, também retira de si e credita à natureza a criação das imagens contidas em seu livro The pencil of nature. Esse entendimento de que a imagem era formada pela luz, no interior de um dispositivo mecânico, pelas leis da física e da química, de modo automático, onde a participação do homem é (quase) nula, está presente não apenas naqueles momentos iniciais: exemplos desse tipo de manifestação serão registrados ao longo de toda a história da fotografia, em maior ou menor grau, dependendo do contexto.
Um fenômeno responsável por uma enorme popularização da fotografia foi a produção da carte de visite. Patenteada por André-Adolphe-Eugène Disdéri, em 1854, eram cópias fotográficas feitas por meio de negativos de vidro, montadas em cartão, com dimensões reduzidas, por volta de 6 cm x 9 cm. O tamanho não era um detalhe menor. A grande ideia que trouxe fama e fortuna a seu criador foi, por meio de câmeras especialmente construídas para isso, passar a produzir oito ou mais retratos em apenas uma chapa de vidro. Com isso cada chapa era copiada para o papel e
29 ROUILLÉ, 2009, p. 109
30 NEWHALL, Beaumont. História de la fotografía. 2.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
bastava recortar cada retrato e colar no cartão para produzir rapidamente um grande número de fotografias, que eram vendidas a baixo custo e assim se podia atingir uma enorme clientela. As relações entre fotografia e serialização vão muito além da possibilidade de cópias. No processo de produção das carte de visite, o fotógrafo ocupava a posição de um simples peão, um operário numa linha de produção compartimentada e repetitiva31. Mesmo no campo das Belas Artes, já pelos idos de 1880, a fotografia era usada num caráter mais funcional: impressões de homens e mulheres nus, como forma de economizar com modelos vivos. Outros fotógrafos se ocupavam de produzir clichês de cenas urbanas ou paisagens também com o propósito de auxiliar pintores e desenhistas nas suas criações. Eram aplicações auxiliares na produção de quadros, gravuras ou esculturas.
Para André Rouillé, a fotografia é plural, sempre foi. Mas surgiu e se desenvolveu diretamente inserida na dinâmica da sociedade industrial nascente, o que vai determinar seus desdobramentos e funcionalidades. Uma vez que foi forjada por esta sociedade, “a fotografia, no decorrer de seu primeiro século, como destino maior conheceu apenas o de servir, de responder às novas necessidades de imagens da nova sociedade. De ser uma ferramenta”32. A fotografia respondeu e reforçou as necessidades dessa sociedade, assim como qualquer outra relação entre tecnologia e seus usos sociais.
A fotografia é, por excelência, a imagem da modernidade, ao ultrapassar um limite: até então, na produção de imagens, nunca a mão do homem havia sido abolida. Essa fronteira era transposta em meio a um turbilhão de significados. Por um lado a câmara obscura era responsável pela nitidez da projeção, por outro, o processo químico de fixação não tirava nem colocava
31 TAGG, John. El peso de la representación. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005. p. 67.
32 ROUILLÉ, 2009, p. 31
nada à cena retratada. A junção dessas propriedades físico-químicas era capaz apenas de reproduzir, de capturar, não havia criação, interpretação, apenas um espelhamento do real, segundo os pensamentos que conseguiam maior eco. Tais características são vistas mais como qualidade do que como defeito. Enquanto o desenhista transmite para o papel apenas uma seleção daquilo que documenta – por limitações que vão da técnica ao que “consegue” ver –, o fotógrafo é mais exato, mais completo, o que traz para a fotografia uma grande funcionalidade de documentação. Rouillé faz um extenso esmiuçamento das várias maneiras como a fotografia esteve ligada aos ideais industriais e da modernidade, onde o caráter automático, serializado, maquínico tinha maior destaque do que o aspecto humano, criativo ou subjetivo. Essas ligações passam pelas cidades, pelo expansionismo, pelo mercado – como no citado exemplo de Disdéri e sua carte de visite –, pela democracia – um valor moderno ao qual a fotografia se vê associada. A fotografia ignora a transcendência, traz para o plano das coisas triviais do mundo profano os valores sagrados do céu: a imagem deixa de ser fruto do gênio criador humano e sensível, para uma produção de uma máquina sem alma.
Durante cerca de um século, perdurará a retirada da importância do sujeito na produção fotográfica, cujo resultado é chamado por Rouillé de fotografia-documento: “refere-se inteiramente a alguma coisa palpável, material e preexistente, a uma realidade desconhecida, em que se fixa com a finalidade de registrar as pistas e reproduzir fielmente a aparência”33. A fotografia-documento tira partido de uma ligação direta entre as coisas e as imagens. Uma característica presente na fotografia, que trata do aspecto mais indicial, de uma ligação física entre referente e o signo. Ou seja, o valor de documento da fotografia
33 ROUILLÉ, 2009, p. 62.
tem como base o dispositivo34 em si – e respectivos processos cientificamente objetivos englobando a física e a química –, o modelo epistemológico da câmara obscura – que isolou imagem e observador –, as ligações com preceitos da modernidade, mas teve em estudos mais recentes uma sobrevida, uma reafirmação de sua instância referencial, que, se não tinha esse objetivo, pelo menos contribuía para o poder de verdade, de real da fotografia. Barthes dedica grande espaço a essa ligação imagem-referente.
“O que intencionalizo em uma foto […] não é nem a Arte, nem a Comunicação, é a Referência, que é a ordem fundadora da Fotografia”35. “Eis soldados poloneses em repouso em um campo” [referindo-se a uma fotografia de Kertész, de 1915] “nada de extraordinário, a não ser isso, que nenhuma pintura realista me dariam: eles estavam lá; o que vejo não é uma lembrança, uma imaginação, uma constituição […] mas o real no estado passado: a um só tempo o passado e o real”36. O noema “isso-foi” de Barthes – segundo ele mesmo o que resume o objeto do livro inteiro – é tido até hoje como um dos pilares da ontologia fotográfica. Em outra passagem, reforça: “a fotografia sempre traz consigo seu referente […] estão colados um ao outro”37. A análise barthesiana privilegia a característica de índice da fotografia, afirmando ver somente o referente. Uma transparência ou invisibilidade da fotografia, que é atravessada pelo olhar do leitor – spectator –, este, talvez, o único possível sujeito no processo. O livro de Barthes,
34 O conceito de dispositivo de Maurice Mouillaud aponta para a ideia de uma matriz que age sobre as práticas sociais, comandando não apenas a ordem dos enunciados, mas a postura do leitor (MOUILLAUD, Maurice. Da forma ao sentido. In: PORTO, Sérgio Dayrell (Org.). O jornal: da forma ao sentido. Brasília: Editora UnB, 2002, p.32). Os dispositivos impõem suas formas ao texto – por ele entendido como qualquer forma de inscrição – e se encaixam uns nos outros. Tal linha de pensamento nos remete a Vilém Flusser, que usa o termo “aparelho”, afirmando que este é programado para funções e estão subordinados a aparelhos superiores (FLUSSER, 2002). Flusser também fala da função codificadora do canal distribuidor.
35 BARTHES, 1984, p. 115.
36 BARTHES, 1984, p.124.
37 BARTHES, 1984, p.15.
sua última obra antes de falecer, foi escrito em 1980 e se transformou num dos pilares da teoria fotográfica, contribuindo para reforçar um valor de verdade, de prova, que tem nessa ligação direta – sem interferência do homem – entre imagem e objeto fotografado seu maior argumento. Barthes defende que existem mecanismos para conferir verdade a uma linguagem, faz-se uso da lógica ou do juramento. Já a fotografia seria indiferente a esse tipo de recurso: “ela não inventa; é a própria autenticação; os raros artifícios por ela permitidos não são probatórios”38 . Escrito três décadas antes de “A camara clara”, um outro texto que foi por muito tempo referenciado – e ainda recentemente usado como apoio e não de maneira crítica em pesquisas – é o de André Bazin, cujo título já antecipava o papel que tomou para si no campo das reflexões sobre as imagens: “Ontologia da imagem fotográfica”39. Ele trata de uma libertação da pintura pelo advento da fotografia, baseada não no aperfeiçoamento material, mas numa satisfação completa por uma reprodução mecânica do real. “Todas as artes se fundam sobre a presença do homem; unicamente na fotografia é que fruímos da sua ausência”40. Bazin chega a defender que a fotografia deveria ser considerada como objeto do campo das ciências naturais, tão forte é sua relação com a natureza, maior do que com as ciências humanas. Podemos observar essa mesma tendência por outro ângulo. Ao escrever um texto que trata dos métodos de investigação para a história da fotografia, Anne McCauley destaca uma dificuldade muito frequente para esse tipo de trabalho: a ausência de registros sobre os fotógrafos que, durante muito tempo, sequer eram citados, creditados. Ou, nas suas palavras,
38 BARTHES, 1984, p.128.
39 Publicado em 1958.
40 BAZIN, André. Ontologia da imagem fotográfica. (Traduzido de André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? vol. 1, Paris, Editions du Cerf, 1958). In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro : Edições Graal: Embrafilmes, 1983.
a quase invisibilidade do fotógrafo como indivíduo criativo definido por suas obras também emerge em um estudo cronológico da monografia fotográfica. […] Essa ausência reflete a nula importância que se outorgava aos fotógrafos individuais em uma sociedade onde a maior parte do trabalho fotográfico foi publicado anonimamente e na qual quase todos os fotógrafos foram tratados como artesãos e comerciantes41.
Outros autores, no entanto, trabalham com perspectivas diferentes. John Tagg entende que a combinação entre fotografia e evidência na segunda metade do século XIX estava estreitamente ligada à aparição de novas instituições e novas práticas de observação e de arquivo. Para ele o poder não está na câmara, mas no Estado que faz uso dela, que garante a autoridade das imagens que constrói como prova ou registro da verdade42. A condição “ontológica” de um reflexo do real, não é assim tão direta, óbvia, natural. Foi negociada, necessitou de um aprendizado, de uma aceitação. O autor detalha os primeiros usos da fotografia como documento num julgamento judicial, durante plano de desocupação de um bairro de Leeds, quando uma seleção de fotografias foi apresentada ao Parlamento, com o propósito de reforçar uma autoridade e um reconhecimento das argumentações43. Dois aspectos exemplares valem ser citados. Por um lado, os responsáveis pelo julgamento não estavam habituados a considerar as imagens fotográficas como constatação de algo, como deixa claro um dos presentes ao questionar se não haveria nada melhor a fazer do que amontoar as pessoas com cartões-postais. Por outro lado, Cameron, sani-
41 MCCAULEY, Anne. Escribir la historia de la fotografía antes de Newhall. In: NEWHALL, Beaumont. História de la fotografía. 2.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 307.
42 “No se trata del poder de la cámara, sino del poder de los aparatos del Estado local que hacen uso de ella, que garantiza la autoridad de las imágenes que construye para mostrarlas como prueba o para registrar una verdad.” (TAGG, 2005, p.84).
43 TAGG, 2005, cap. 5.
tarista responsável pelo uso das fotografias como prova, se valia de seu conhecimento técnico num nível acima da plateia para preencher lacunas de informação que a fotografia não era capaz de trazer. Com isso ele conduzia o discurso ora para uma argumentação que destacava o caráter realista, ora para possíveis interpretações e percepções mais subjetivas. Estamos em 1896. Somente na virada do século é que são desenvolvidos procedimentos técnicos para a codificação da análise de fotografias como elementos de prova. A qualidade vinculante entre fotografia e realidade é constituída não apenas pelo aparato, pelo grau de definição, mas, principalmente, pela autoridade que é investida por instituições como polícia, ministérios, justiça, tribunais. “Nunca neutra, a fotografia se encontra sempre vinculada a um discurso44”, afirma Batchen. Esse discurso objetivo é construído a partir de um sólido embasamento institucional. Já Dubois, que pretende “atingir a fotografia” no sentido de um discurso teórico mais amplo 45, leva a discussão para as outras categorias da semiótica peirceana. Ele afirma que a fotografia é índice, em “primeiro lugar”, para depois então adquirir sentido (símbolo) e tornar-se parecida (ícone). O processo e as pessoas envolvidas devem estar incluídos no fotográfico. “Com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora de seu modo constitutivo, fora do que a faz ser como é” 46, devendo estar aí incluída, nessa constituição, o ato da produção, da distribuição e da recepção. Este autor amplia os elementos constitutivos da fotografia, envolvendo o ato produtor como gerador de significação.
Podemos entender a forte influência de autores como Barthes que, tão recentemente, reforçaram a condição de uma
44 Tradução livre para “nunca neutral, la fotografía se encuentra siempre vinculada a un discurso” (BATCHEN, 2004, p. 16).
45 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1994, p. 59.
46 DUBOIS, 1994, p.59.
fotografia indicial, mas sabemos que esses conceitos eram contemporâneos a outros que defendem maneiras diversas de encarar tais ligações. Décadas antes, nos anos 1930 e 1940 ou mesmo na virada do século XIX para o XX, diversos movimentos, no campo da produção, já apontavam para uma valorização do fotógrafo como sujeito criador da imagem. Revistas ilustradas já destacavam a participação de alguns fotógrafos em suas edições, valendo-se de uma fama, de um valor agregado que esses autores carregavam. A Life, por exemplo, é lançada em 1936 manifestando sua prioridade para a imagem resultante de um pensar e sentir, uma revista “para ver e ter o prazer de ver; para ver e ser surpreendido; para ver e aprender”47. Iniciativas como a agência Magnum – agência francesa, fundada em 1947, falaremos dela com mais cuidado adiante – surgiam com o propósito maior do reconhecimento do fotógrafo e dos direitos autorais.
1.2 Inscrição do sujeito
O declínio da imagem-documento acontece quando o fotógrafo reivindica a inscrição de sua subjetividade em sua obra, abrindo espaço para a imagem-expressão: “o elogio da forma, a afirmação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com os modelos são seus traços principais”48. Para este autor, o melhor exemplo dessa reorientação foi Robert Frank, que entre 1955 e 1956, apoiado pela Fundação Guggenheim, cruza os EUA recusando “à mínima imposição externa”, assentando “a soberania do ‘eu’ do fotógrafo”, colocando “a imagem sob o domínio exclusivo de sua subjetividade, de sua ‘inspiração’, de sua ‘alma’”49. Agora se
47 KOBRÉ, Kenneth. Fotojornalismo: uma abordagem profissional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 437.
48 ROUILLÉ, 2009, p. 161.
49 ROUILLÉ, 2009, p. 171.
faz necessária uma escrita fotográfica, uma forma trabalhada por um autor. Segundo Souza, “com Robert Frank, começou a perder força a herança ideológica da objetividade que se havia introduzido no discurso fotodocumental e (foto)jornalístico”50. A “fotografia-expressão” vem se contrapor à “fotografia-documento” no que ela tinha de negação da subjetividade – tanto do fotógrafo, quanto da relação com os modelos e as coisas fotografadas. Para Rouillé, “é o inverso desses elementos que caracteriza com exatidão a fotografia-expressão: o elogio da forma, a afirmação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com os modelos são seus traços principais. A escrita, o autor, o outro”51
Já vimos que, em meados do século XIX, logo após o surgimento e registro das primeiras experiências bem-sucedidas de fotografia, técnicas diferentes se alinharam a parcelas divergentes da sociedade, causando uma polarização entre a função mais objetiva ou mais subjetiva da imagem. Importante reforçar, mais uma vez, que não nos parece correto defender um ou outro lado, uma ou outra característica. A fotografia inclui todas essas possibilidades. Pode ter funções de documentação ou de expressão, pode ser indicial ou simbólica (ou os dois). Se um ou outro aspecto foi mais valorizado ou mesmo serviu de base para fundamentações teóricas que marcaram uma época, foi exatamente porque, dependendo dos anseios da sociedade, das pessoas envolvidas, das limitações estruturais e tecnológicas, dos interesses da indústria, era o que o momento permitia “ver”. Essas potencialidades seriam atualizadas de acordo com os estímulos ou limitações de cada tempo.
Não vamos aqui arrolar todos os movimentos da história da fotografia, todas as idas e vindas para cada um desses “polos”.
50 SOUSA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Florianópolis: Letras Contemporâneas e UNOESC, 2000, p. 148.
51 ROUILLÉ, 2009, p.161.
Mas vale a pena lembrar do pictorialismo, movimento surgido no final do século XIX, que, visando garantir à fotografia o status de obra de arte, protagonizou uma espécie de manifesto “antifotográfico”, que negava o mecanicismo, a exatidão, a nitidez, a reprodutibilidade. O pictorialismo se caracterizava pela escolha de técnicas e materiais que proporcionassem desfoque ou texturas diferenciadas em relação à fotografia comumente feita, além da manipulação e intervenção dos negativos e das cópias, com o intuito de inserir a mão do artista, o olho, o humano no processo e devolver uma característica de “obra-prima”, de não reprodutível, original.
Na Europa, os fotógrafos pictorialistas amadores começaram a utilizar técnicas de manipulação cada vez mais elaboradas, com recurso à platina, à goma bicromatada, ao carbono etc., que resultavam num produto final tão distante do trabalho dos desprezados “caçadores de instantâneos” quanto possível, parecendo-se mais com esboços a pastel ou desenhos a carvão do que com fotografias52
Se um dos “pecados artísticos” da fotografia era a possibilidade de reprodução indiscriminada, nada mais natural, num movimento que visa a aceitação artística, que a busca por quebrar essa característica. Ou seja, se houve uma valorização do sujeito, isso passava por uma negação da fotografia, de modo a confirmar uma relação difícil entre a fotografia e a subjetividade, como se mesmo esses autores não aceitassem a possibilidade de sua inserção neste campo, a impossibilidade de coexistência. Esse movimento pendular entre maior presença do homem ou da máquina permeou toda a história da fotografia e continua presente até os dias de hoje, basta observar a atenção dada ao equipamento por muitos fotógrafos ou a indagação, pelo senso
52 ROBERTS, Pam. Alfred Stieglitz, a Galeria 291 e Camera Work. In: Camera Work: the complete chotographs 1903-1917. Köln: Taschen, 2010. p. 360.
comum, sobre a marca e as especificidades da câmera usada para fazer uma boa foto. Ora teve mais espaço a ideia da natureza se colocando diretamente nas imagens, em outros momentos o fotógrafo era apenas uma engrenagem da máquina de capturar o real sem falhas, ou as várias fases em que a subjetividade foi içada a níveis superiores. A reabilitação do homem como centro do ato fotográfico e a necessidade do diálogo com o fotografado – com a possibilidade de interferência deste na construção da fotografia – chegam sincronicamente às primeiras vacilações das mitologias industriais e modernas, abrindo espaço para percepções intermediárias, possibilidades de hibridações e rearranjos estruturais e formais. Um novo horizonte que permitiria não apenas redefinições do lugar do sujeito no ato fotográfico, como até a implantação de novas configurações desse sujeito: uma primeira abertura, talvez, para a aceitação do fazer coletivo.
As polarizações que aconteceram em torno da técnica e do dispositivo, bem como os estudos que traziam de forma determinante o aspecto mais indicial – Ontologia da imagem fotográfica, de André Bazin, em 1958; A câmara clara, de Roland Barthes, em 1980, entre outros –, deixavam de fora a possibilidade de uma conciliação entre homem e máquina e a “fecundidade” dessa posição intermediária. Foi necessário que experimentássemos tempos pós-industriais – e as transformações sociais respectivas –para percebermos novas potencialidades a serem exercidas. Hoje é impossível se pensar a produção de subjetividade distanciada de sistemas maquínicos. “Nenhum campo de opinião, de pensamento, de imagem, de afectos, de narratividade pode, daqui para a frente, ter a pretensão de escapar à influência invasiva da ‘assistência por computador’, dos bancos de dados, da telemática, etc.”53. Guattari chega a indagar-se se a própria essência do sujeito
53 GUATTARI, Félix. Da produção de subjetividade. In: PARENTE, André (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 177.
não estaria ameaçada por esta nova “máquino-dependência” da subjetividade. Para ele, as máquinas são “formas hiperdesenvolvidas e hiperconcentradas” de alguns aspectos de nossa própria subjetividade, não tendo sentido algum que o homem queira desviar-se delas, das máquinas. Flusser também nos alerta para essa ligação entre a tecnologia e o homem: “sempre se supôs que os instrumentos são modelos de pensamento. O homem os inventa, tendo por modelo seu próprio corpo. Esquece-se depois do modelo, ‘aliena-se’, e vai tomar o instrumento como modelo do mundo, de si próprio e da sociedade”54. Aprofundaremos as mudanças e as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias no capítulo 2.
1.3 O fotógrafo individual
Vencida a barreira da inserção do sujeito, a possibilidade de uma fotografia coletiva tem que lidar com o caráter individualista desse produtor de imagem. A fotografia é percebida como uma atividade individual por diversos vieses. Para Susan Songag, “tirar fotos é uma técnica ilimitada de apropriar-se do mundo objetivo e também uma expressão inevitavelmente solipsista do eu singular”55. Numa só frase temos uma referência à captação, mais que à criação, de um “mundo objetivo” como expressão de um indivíduo solitário. Embora várias das reflexões da autora pudessem ser estendidas conceitualmente à prática coletiva, encontramos em diversos momentos de sua obra uma referência direta ao fazer individual. A extensa pesquisa sobre o modelo de visualidade vigente no início do século XIX, empreendida por Crary56, nos dá uma chave para o entendimento de que naquele
54 FLUSSER, 2002, p.73.
55 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 138.
56 CRARY, 1990.
momento se promoveu uma redefinição da relação entre observador e mundo, colocando o primeiro como isolado, fechado e autônomo, em seu confinamento escuro. Embora não seja a questão central de sua obra – o autor defende, inclusive, que existem mais diferenças do que semelhanças entre os modelos epistemológicos da câmara obscura e a fotografia –, ela ilumina sobre um aspecto importante para pensarmos a individualização do fazer fotográfico.
Podemos encontrar, em paralelo ao que já foi colocado, diversos outros aspectos que atuam reforçando uma ideia de individualidade na fotografia, os quais vêm sendo revistos, muito em função da atuação de grupos que questionam a noção de autoria individual. Porém foram – e continuam sendo – responsáveis por uma percepção que passa primeiramente por um fazer individual. Citemos alguns, sem a intenção de esgotarmos o assunto. Existe o entendimento cotidiano de que o autor de uma fotografia é aquele que “aperta o botão”. Se o dispositivo é acionado – e na maioria das vezes operado, regulado, carregado – por um único indivíduo, recai sobre esse sujeito o reconhecimento pelo produto fotográfico. Embora a legislação que rege o direito autoral no Brasil – lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – admita a coautoria57, é comum que contratos e licenças façam menção apenas a um autor.
O crédito coletivo também é confundido com a falta de crédito. Não raro, nos encontros, debates, ou mesmo em publicações especializadas, a assinatura em conjunto é apontada como um retrocesso em relação a uma conquista histórica importante da categoria dos fotojornalistas: a obrigatoriedade do crédito58.
57 A lei dá cobertura apenas à pessoa física, o que significa que um grupo não pode ser reconhecido como autor na condição de grupo. Mas é possível que várias pessoas físicas compartilhem a autoria de uma obra, como é comum na música, por exemplo.
58 Na verdade essa obrigatoriedade é extensiva a todas as imagens, conforme a lei citada acima, porém é no campo do fotojornalismo onde há uma maior adesão e respeito à tal norma, direito muitas vezes reforçado por acordos sindicais específicos.
Não deixa de ser curioso observar isso num meio onde o uso de pseudônimo é prática corrente. O despreparo para uma autoria coletiva também pode ser percebido nos editais de concursos e normas de instituições. Por exemplo, o coletivo paulista Cia de Foto59 passou, ao menos, por duas situações que atestaram essa necessidade de adaptação. Ao serem convidados para integrarem a Coleção Pirelli-Masp de fotografia, uma das mais conceituadas coleções do país, foi solicitado a eles que identificassem a autoria de cada foto isoladamente, com o nome do integrante “responsável” por cada imagem. Não havia, na comissão curadora da coleção, abertura para uma atuação – e assinatura – coletiva. O desfecho foi a negação da participação da Cia, que manteve seu entendimento de que não haviam autores individuais responsáveis por cada fotografia, que elas eram fruto do trabalho conjunto. Hoje a Coleção Pirelli-Masp possui obras da Cia, pois modificaram seu regulamento, admitindo a participação de grupos.
Um outro episódio envolveu um dos principais prêmios mundiais de fotojornalismo, o World Press Photo – WPP. Um ensaio produzido pela Cia de Foto foi premiado, porém toda a veiculação, publicação, exposição do material seguiu com o crédito de apenas um integrante, desrespeitando o fato de que aquele material é resultado de um esforço colaborativo –muitos concursos solicitam inscrição individual para fins legais, mas reconhecem e creditam os resultados para o grupo, algo que não aconteceu nesta ocasião. Por outro lado, existe toda uma visão romantizada em torno do fotógrafo, detentor de um olhar mágico, que dispara sua câmera condensando informação e emoção num único clique. Personagens de filmes, novelas e romances reforçam a ideia de um ser independente, individual – beirando o egoísmo ou a solidão em muitos casos. Esse tipo de imagem reforça um ideário de individualidade. Uma carac-
59 Mais adiante veremos um estudo de caso mais aprofundado sobre a Cia de Foto.
terística tão forte que influenciará uma série de experiências envolvendo grupos de fotógrafos. É curioso perceber tanto a existência de autores fotográficos que assinam “individualmente” uma obra, que é fruto da participação de vários fotógrafos, como grupos que, apesar de congregarem muitos participantes em nome de ideais ou necessidades comuns, mantêm princípios de individualidade muito arraigados em seu interior.
1.4 Indivíduos coletivos
A Guerra da Secessão nos Estados Unidos (1861-1865) é apontada por Jorge Pedro Souza como o primeiro evento com uma cobertura massiva por fotógrafos60. O autor elenca uma série de aspectos relacionados a esta guerra, aspectos estes importantes para o desenvolvimento do fotojornalismo. Entre outros, estaria a percepção de editores para o interesse dos leitores por relatos da guerra amparados pelo detalhamento e realismo da fotografia; a necessidade da velocidade de publicação; a proximidade em relação ao evento: levar rapidamente uma história, contada do ponto de vista mais perto possível, para um leitor ávido por poder ser observador do mundo através de um realismo que só a fotografia poderia oferecer. Mesmo que nessa época a fotografia ainda não pudesse ser impressa diretamente, uma vez que ainda não existiam soluções técnicas para a impressão dos meios-tons, demandando uma transposição das fotografias para gravuras executadas por mestres gravuristas. A Guerra da Secessão também seria a primeira guerra que representa perigo de morte para os fotógrafos, pois, até então, os “caçadores de imagens” não alcançavam o front propriamente dito, registravam os acampamentos, os oficiais e os campos de batalha depois dos
60 SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004, p. 35.
embates, fotografavam situações posadas ou pós-eventos de guerra. Apesar dos avanços tecnológicos dos primeiros vinte anos de fotografia, as produções necessitavam de uma estrutura que envolvia pesados equipamentos, manipulações químicas e laboratórios móveis que permitissem tanto a preparação das chapas logo antes do uso, quanto a sua revelação logo após a captação. Um nome que se destacou na época e entrou para a história da fotografia foi o do fotógrafo Mathew Brady. Newhall transcreve algumas palavras publicadas pelo The New York World: “‘Cenas e Incidentes’ do Sr. Brady… são inestimáveis cronistas dessa época tempestuosa, requintadas em beleza, verdadeiras como os registros celestes61”. Célebre na sua época e redescoberto nos anos 1930, por defensores do documental que o consideram fundador da “fotografia pura” americana, sua reputação muda de um genial fotógrafo detentor de um olhar excepcional para um nome de uma agência que agrupa a produção de diversos fotógrafos62. Brady era um ex-daguerreotipista de sucesso, que chegou a ter três galerias (duas em New York e uma em Washington) e empregar diversos operadores para a produção, principalmente, de retratos. Para a documentação da Guerra Civil, contou com 26 colaboradores e financiou a empreitada com recursos próprios, com a intenção de vender as imagens posteriormente para o governo, algo que não aconteceu como desejava. Produziu cerca de 7 mil chapas e vários de seus fotógrafos se tornaram famosos, como Alexandre Gardner, pivô de um desentendimento com seu patrão ainda durante a guerra. Gardner se incomodava com o fato de que, apesar de raramente operar as câmeras, Brady era quem assinava todas as fotografias produzidas pela equipe. Assim como
61 Tradução livre para: “‘Mr. Brady’s ‘Scenes and Incidents’… are inestimable chroniclers of this tempestuous epoch, exquisite in beauty, truthful as the records of heaven” (NEWHALL, 1997, p.89).
62 LUGON, Olivier. El estilo documental: de August Sander a Walker Evans, 1920-1945. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, p. 258.
acontecia na época dos daguerreótipos, com três estúdios funcionando em paralelo, quando o reconhecimento pelas imagens era somente do patrão.
Hoje esses fatos são de conhecimento de todos e podem figurar como uma curiosidade ou soar estranho para muitos ouvidos que um fotógrafo pudesse responder pela produção de tantos colaboradores. Na época, na verdade, isso não causava estranhamento nenhum. De fato os fotógrafos eram pouco reconhecidos assim de maneira geral. Muitas das fotografias do século XIX – e mesmo do início do século XX – estão catalogadas em importantes coleções sem nenhuma referência àqueles que as produziram. Os estúdios, agências ou corporações responsáveis por tais produções, no entanto, comumente estampavam suas marcas ou iniciais nos estojos, cartões, molduras ou mesmo no interior da imagem. A indignação de Gardner pode ser considerada como uma das manifestações precursoras da luta pelo crédito e reconhecimento dos fotógrafos. Brady certamente não inaugura a prática de uma assinatura individual englobar o trabalho de um grupo de fotógrafos, uma maneira de trabalhar que não fugia da prática usual daqueles tempos. Que também não causa choque quando comparamos com os ateliês e escolas das artes plásticas, em épocas ainda anteriores, onde se estabelecia uma relação entre os mestres – aqueles que assinam as obras e são até hoje reverenciados – e seus alunos e colaboradores. Mas nos vale como um primeiro exemplo de uma equipe de fotógrafos trabalhando sob um só nome, compartilhando objetivos e estrutura de trabalho. Seria isso suficiente para pensarmos em Mathew Brady como um coletivo fotográfico?
1.5 A invenção de Capa
Avancemos agora algumas décadas, vamos observar a história de um outro fotógrafo que também entrou para a história por suas coberturas de guerra, tendo, inclusive, uma relação importante com uma guerra civil, dessa vez a espanhola. Em 22 de outubro de 1913, nasce na Hungria, Endre Erno Friedman, depois conhecido por André Friedman. Aos 17 anos, por questões políticas, se muda para a Alemanha, levando junto a vontade de estudar jornalismo. Foi lá onde ele se interessou por fotografia. Num momento de poucos recursos, pois os pais não tinham mais condições de enviar dinheiro, e pelo fato de que seria difícil desenvolver uma carreira de jornalista sem dominar a língua – a língua húngara não ajudava muito nessa hora –, ele recorre a Eva Besnyö, fotógrafa e amiga de infância, interessado em arrumar um meio de vida. Ele perguntou para ela: “esse negócio de fotografia, é uma boa maneira de ganhar a vida?”63. É curioso que ela fala para ele que não se trata de uma profissão, mas de um chamado ao qual devemos atender. Mas ele parece não se preocupar muito com isso, pergunta se é divertido. Ela o apresenta a alguns contatos do mercado e logo André começa a trabalhar numa agência chamada Dephot, no laboratório. Aprende com os fotógrafos da agência e consegue algumas pautas para fotografar. Isso tudo acontece por volta de 1932 e, no ano seguinte, com a ascensão do nazismo, na condição de imigrante judeu, mais uma vez é obrigado a fugir por motivos políticos. Depois de tentar outros destinos, incluindo a própria Hungria e Veneza, chega a Paris. É lá onde ele conhece David Chim Seymour, que o apresenta a Henri Cartier-Bresson, uma amizade que duraria a vida toda e que resultaria em muitos frutos, apesar da imensa disparidade de personalidade. Vale lembrar que a vida não era fácil para André nesses
63 KERSHAW, Alex. Blood and champagne: the life and times of Robert Capa. New York: Da Capo, 2004, p. 16.
primeiros tempos de França. Sem dinheiro, sua câmera passava mais tempo em lojas de penhores do que fotografando.
No outono (setembro) de 1934, ele consegue um trabalho para fotografar uma modelo num parque da cidade. Recorre aos cafés que costumava frequentar, para encontrar uma candidata. Consegue convencer uma das moças, uma refugiada suíça, Ruth Cerf, e marcam local e hora para a foto. No dia combinado, ela chega com uma amiga, pois teve medo: “ele parecia um vagabundo, concordei em posar para as fotos, mas não queria ficar sozinha com ele”64. A tal amiga era Gerda Pohorylles, que viria a ser responsável por uma mudança radical na vida de André – ou na sua morte.
Muitos dos que conheceram o casal confirmaram que André era tão talentoso e carismático quanto desorganizado. Não fosse a intervenção de Gerda, sabe-se lá que destino teria ele. Por influência dela, André passa a se vestir melhor e a usar um corte de cabelo mais moderno. Foi ideia dela a de formarem um novo negócio no qual Gerda atuaria como secretária e agente e André seria laboratorista, ambos trabalhando para um “rico, famoso, talentoso e imaginário, fotógrafo americano chamado Robert Capa, que estava de passagem pela França”65. A invenção do personagem Robert Capa foi uma estratégia de mercado: comercializar suas fotos como se fossem desse tal importante fotógrafo valorizava seu trabalho em até três vezes mais, com os mesmos clientes. Por outro lado, a dificuldade de acesso ao “famoso” e atarefado fotógrafo americano também facilitava a negociação, criava uma mediação em nome de um terceiro, evitava barganhas e a delicada situação de defender o preço de seu próprio trabalho – criava um distanciamento das pressões comerciais. Robert Capa foi uma criação conjunta. Aos poucos Gerda foi aprendendo a
64 KERSHAW, 2004, p. 25.
65 KERSHAW, 2004, p. 29.
fotografar e os dois passavam a produzir imagens assinadas por Capa. É nessa época, também, que Gerda modifica seu nome, passando a usar Taro no lugar de Pohorylles.
Os dois se envolveram profundamente com a Guerra Civil Espanhola. Foi nesses campos onde se produziu aquela que passaria a ser uma das mais conhecidas e mais polêmicas fotografias de Capa: a morte de um miliciano. Durante esse período, André teria pedido Gerda em casamento e ela teria negado. Ela era uma mulher independente, não pensava em se unir unicamente a um homem. Também começava a se mostrar pouco contente com a falta de reconhecimento de seu trabalho individual, se cansava da estratégia colaborativa: quando muito, o trabalho ara assinado como Capa y Taro – primeira vez em fevereiro de 1937. É no meio deste conflito, quando começou a ter os primeiros trabalhos assinados com seu nome, que Gerda se envolve num acidente e morre. Daí por diante Capa assumiria definitivamente seu novo nome.
O nome Robert Capa é uma invenção de duas pessoas, como uma estratégia de mercado, como uma saída para a sobrevivência de dois imigrantes na França dos anos 1930. Uma construção da qual também podem ter participado outros nomes. O excelente documentário “La maleta mexicana”, de Trisha Ziff, conta a história de 126 rolos de negativos, produzidos por Gerda, Capa e Chim durante a Guerra Civil Espanhola e desaparecidos desde a II Guerra Mundial. O que se sabe é que esses filmes foram deixados com o laboratorista de Capa, Imre “Csiki” Weiss, ao fugir de Paris com a ocupação alemã.
Em uma carta datada de 5 de julho de 1975, Weiss recordava o seguinte: “em 1939, quando os alemães se aproximavam de Paris, meti todos os negativos de Bob [Robert Capa] em uma mochila e a levei de bicicleta a Burdeos, para tentar embarcá-la para o México. Na rua, me encon-
trei com um chileno e pedi que levasse meus pacotes de filmes a seu consulado, para que não passasse nada com eles. Aceitou66.
Essa foi a última notícia deste material até a sua recuperação pelo International Center of Photography, em 2007. Existem dúvidas sobre a autoria de várias dessas imagens, pois muitas vezes eles compartilhavam equipamentos e rolos de filmes. Enviavam os filmes para serem revelados por Csiki. Além da questão que citamos da produção conjunta com Gerda Taro, é possível que algumas imagens hoje creditadas a Capa tenham sido feitas por Chim. Há também o fato de Cornell Capa, irmão de Bob, que dedicou boa parte de sua vida a reverenciar e – também – proteger o nome de seu irmão. A invenção de um nome que assina a obra diferente do nome de pessoa física, de cidadão, facilitaria muito o entendimento de uma operação fundamental na discussão sobre autoria e obra. No caso de Capa, no momento em que ele assume a personalidade do personagem, quando o torna real, retoma uma confusão comum nesse debate.
1.6 Quando não faz diferença
Inicialmente Robert Capa era apenas um ser fictício, inventado para facilitar as relações comerciais de dois fotógrafos, que depois foi assumido por um deles que personificou esse personagem até o final de sua vida. Um outro casal de fotógrafos construiu toda uma obra, por cinco décadas, de modo conjunto. Bernd e Hilla Becher, costumeiramente chamados apenas de “os
66 Tradução livre para: en una carta fechada el 5 de julio de 1975, Weiss recordaba lo siguiente: “En 1939, cuando los alemanes se acercaban a París, metí todos los negativos de Bob en una mochila y me la llevé en bicicleta a Burdeos, para intentar embarcarla a México. Por la calle me encontré con un chileno, y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado, para que no les pasara nada. Accedió.” (YOUNG, Cynthia. La historia de la “maleta mexicana”. In La maleta mexicana (site). 2008).
Becher”, possuem uma obra consistente e reconhecida em todo o mundo, começaram a trabalhar juntos em 1959. Bernd já tinha uma formação em pintura e havia optado pela fotografia fazia pouco tempo, depois de passar por uma situação frustrante: estava interessado em pintar estruturas que começavam a desaparecer, mas sua técnica demandava dias de observação e as edificações eram demolidas antes dele finalizar a pintura. Hilla já tinha experiência com fotografia há mais tempo. Era fascinada com essa linguagem já aos 13 anos e aos quatorze trabalhava em seu próprio laboratório, em casa. Teve um aprendizado num estúdio onde, apesar das inovações tecnológicas já disponíveis, o proprietário preferia as pesadas câmeras de grande formato e princípios formais estritos. Esse período trabalhando com grande formato seria muito importante para a metodologia que o casal desenvolveria em sua obra. Compartilharam uma disciplina, como alunos, na Academia de Dusseldorf (Staatliche Kunstakademie Düsseldorf), depois resolveram se casar e formar uma parceria de trabalho que durou até a morte de Bernd, em 2007.
Suas fotografias de indústrias, minas e outras estruturas são resultado de uma metodologia de trabalho minuciosa e perfeccionista. Buscavam uma uniformidade na abordagem e na iluminação, independentemente da localização das obras, primavam por condições aproximadas de produção e enquadramento. Davam preferência a determinadas épocas do ano e horários do dia: outono e primavera eram os períodos mais férteis de produção. Investiam num mapeamento prévio dessas construções – às vezes eles levavam meses entre uma primeira visita de observação até a realização da foto final. Sua pesquisa caminhou para a percepção de padrões e identificação de “tipologias”.
No início, compartilhavam o mesmo equipamento, por questões financeiras. Pelo mesmo motivo (não podiam ter um carro nem pagar hotéis), suas primeiras jornadas foram para locais
próximos: Bernd ia na sua moto, carregando o equipamento, Hilla ficava em casa, no laboratório. Depois as condições melhoraram e puderam passar a viajar juntos, cada um com seu set de equipamento. Mas, ainda assim, continuavam combinando as tomadas e os desdobramentos.
Embora Bernd Becher e Hilla estivessem por muitos anos fotografando independentemente, uma certa divisão de tarefas, enquanto trabalhavam no projeto, tem persistido. Enquanto Bernd Becher concentra mais fortemente em capturar o objeto fotograficamente, Hilla Becher lida com a maioria das tarefas laboratoriais posteriores, embora esta divisão seja apenas superficial. A escolha dos temas e pontos de vista, e até mesmo a discussão sobre a qualidade esperada nas estampas são, essencialmente, o produto de uma intensa troca de informações, de experiências de longa data, e um conceito defendido mutuamente
67
A metodologia de trabalho deles denota preceitos elaborados, muito planejamento e, principalmente, grande dedicação posterior de edição, separação por categorias, agrupamentos por especificidades arquitetônicas e funcionalidades das estruturas, apresentações formais. A fotografia dos Becher não é fruto do acaso. Se não podemos desprezar o momento da captação como uma fase menos importante, dado o apuro técnico de suas tomadas e a complexidade que tal trabalho exige, as fases anteriores e posteriores à captura no campo são muito importantes e demandam muito tempo e energia, promovendo ou exigindo uma
67 Tradução livre para “Although Bernd and Hilla Becher have for many years been photographing independents, a certain division of labor while working on the project has persisted. While Bernd Becher concentrates more strongly on capturing the object photographically, Hilla Becher handles most of the later laboratory tasks, although this division is only superficial. The choice of motifs and vantage points, and even the discussion of the quality expected in the prints are essentially the product of an intensive exchange of information, of long-standing experience, and a mutually championed concept” (LANGE, Susanne. Bernd and Hilla Becher: life and work. Cambridge: The MIT Press, 2007, p. 33).
interação tão grande ao longo do processo que seria descabido não perceber a participação conjunta dos dois nessa construção. Hilla tinha o costume de tomar nota das viagens para captação das imagens. Interessante perceber como ela escreve na primeira pessoa do plural, sempre como “nós”: dirigimos, subimos, fizemos, viajamos, voltamos, até ações como dirigir o carro eram empregadas no plural68. Uma troca tão permanente, que muitas vezes, nem eles sabiam quem tinha feito o que num trabalho: “outras pessoas não são capazes de dizer quem fez uma foto e nós mesmos também nos esquecemos muitas vezes. Simplesmente isso não é importante”69, diziam. Apesar da primeira exposição da obra deles, em março de 1963, trazer apenas o nome de Bernd no título, toda a sua obra é creditada como “Bernd e Hilla Becher”, seja em exposições, livros e outras formas de publicação.
A experiência dos Becher contém muitos aspectos importantes para nossa observação sobre coletivos. Por meio de laços que vão além do contrato de trabalho, compartilhavam não somente estrutura e ideias, mas a fotografia em si. A obra resultante é dos dois, como se fossem um só. Suas contribuições individuais se diluem num resultado comum aos dois, de modo tão emaranhado que não se perde o sentido de separar a parte que é de um ou de outro. Se um vinha de uma formação do desenho técnico e se interessava pelas perspectivas das plantas industriais e o outro trouxe referências da fotografia de grande formato, além da experiência com laboratório, tais contribuições se mesclavam e se contaminavam mutuamente construindo um resultado impossível sem tal mistura. As potencialidades, os conhecimentos e os desejos, assim como as limitações, os erros e dúvidas, compõem um tecido em que a tônica é a junção e não a separação. Talvez de maneira involuntária ou inconsciente, atuam numa lógica de
68 LANGE, 2006, pp. 179-183.
69 Tradução livre para: “outsiders cannot tell who has taken a particular photo and we also often forget ourselves. It simply is not important” (LANGE, 2006, p. 187).
inteligência coletiva e na ausência de uma hierarquia rígida, de uma estrutura linear.
Os três exemplos citados buscaram tratar de fotógrafos que construíram obras “individuais” valendo-se da colaboração de diversos atores. Foram experiências que agruparam fotógrafos, mas, principalmente nos dois primeiros casos, de Mathew Brady e Robert Capa, de maneira a produzir uma obra em torno de um só nome. No primeiro exemplo, ainda estávamos numa época muito anterior à valorização do autor, quando mais comumente nenhum nome era creditado às produções, ou predominava o nome do estúdio ou do fotógrafo que chefiava a equipe. Isso não impediu que Alexandre Gardner, um dos contratados de Brady, se chateasse com a falta de reconhecimento de seu trabalho, porém era algo não usual. No outro caso, o compartilhamento entre duas pessoas de um terceiro nome, o de Capa, não durou muito tempo e era uma estratégia de mercado. Algo que já trazia várias das preocupações e soluções que permeariam a fundação da agência francesa Magnum, que detalharemos mais adiante. No caso dos Becher, vemos uma real integração no fazer fotográfico, envolvendo em grande escala a reflexão, o planejamento e a construção do conceito de seus trabalhos, algo que atravessa a obra como um todo.
1.7 As experiências colaborativas na fotografia
Na nossa busca por caracterizar os coletivos fotográficos contemporâneos, precisamos nos debruçar sobre outras iniciativas que agruparam fotógrafos em torno de objetivos em comum. Importante fazermos essa recuperação e comparação tanto porque é um bom exercício para refletirmos as possibilidades de se fazer fotografia “junto”, mas também porque é possível per-
ceber muitas opiniões e informações diferentes envolvendo esses grupos. Hoje a poeira começa a baixar, principalmente a partir da consolidação do trabalho de diversos coletivos, mas muita polêmica ainda domina o senso comum a respeito dos coletivos e muitas das discussões comparam esse modelo com as agências e os fotoclubes, entre outros.
Um exemplo interessante como análise foi um post publicado sobre o Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos, um evento ocorrido em São Paulo, em 2008. A publicação à qual nos referimos foi da pesquisadora e jornalista Simonetta Persichetti em seu blog Trama Fotográfica. A postagem anunciava que o evento iniciaria, ou seja, não se trata de uma análise do evento, mas de uma antecipação de alguns temas e preocupações que a autora acreditava que fariam parte das discussões. Persichetti não aprofunda a discussão, não era esse o propósito do texto, mas sua publicação desencadeia uma grande participação, por meio dos comentários, de fotógrafos – inclusive coletivos –, professores e, pesquisadores do meio fotográfico. Muitos dos comentários eram maiores que o próprio texto da jornalista, formando um debate acalorado em torno da temática. Na abertura, Persichetti dizia “enquanto isso vou pensar um pouco neste fenômeno mundial dos coletivos que em grande parte me lembra o fenômeno acontecido há mais de 20 anos, quando começaram a pipocar pelo mundo várias agências fotográficas”70. Complementava afirmando que “os coletivos não são necessariamente agências fotográficas e, é claro, que o momento é outro. Mas as justificativas ou explicações para este fato parecem ser as mesmas”. Também se perguntava sobre as questões da autoria e da participação da pós-produção no processo – se referindo ao laboratorista, peça chave na finalização do trabalho de todo fotógrafo analógico. Nos comentários encontramos opiniões que
70 PERSICHETTI, Simonetta. Encontro de coletivos. In: Trama Fotográfica (site). 2008.
se referem aos coletivos como um modismo ou como jogada de marketing, uma fórmula que não traria nada de novidade a não ser um tratamento de autopromoção. É interessante também percebermos num comentário de defesa dos coletivos a afirmação de que até pouco tempo era “proibido ser coletivo”.
A participação de vários comentaristas com suas opiniões divergentes – algumas possivelmente equivocadas, outras complementares – traz alguns aspectos para nosso debate. Podemos perceber o quanto a temática dos coletivos se confunde com outras iniciativas que agruparam fotógrafos ao longo da história. Mas também nos faz ver uma prática que se aproxima muito da rotina dos coletivos: o principal material desta postagem está nos comentários e não no texto em si. A riqueza se dá pelas várias nuances e pela possibilidade delas formarem o todo. O compartilhamento de opiniões e informações, associado à crítica permanente como modo de operação. Faz-se importante então, uma busca por delinear as características das experiências precedentes, para uma posterior análise comparativa.
Ao observarmos a história71, é possível levantar algumas iniciativas que agruparam fotógrafos de maneira organizada. Deixando de lado movimentos e “escolas”, podemos destacar o surgimento dos fotoclubes e sociedades fotográficas, ainda na metade do século XIX; as agências e cooperativas fotográficas, que, como veremos adiante, podem ser divididas em subcategorias. Tomaremos licença também para incluir o Farm Security Administration (FSA) como outro importante modelo de produção fotográfica coletivizada, como forma de ampliar a discussão.
71 SOUZA, 2000; TAGG, 2005; NEWHALL, 2006.
1.7.1
Fotoclubes
Os fotoclubes surgem já no século XIX e reúnem amantes da fotografia em suas mais variadas relações com a linguagem: profissionais, amadores ou técnicos. São sociedades fechadas. Um dos principais catalisadores desse movimento é o desejo de elevar a atividade fotográfica a um nível superior, de se diferenciar daquele “usuário comum” que começava a aparecer com mais frequência, registrando suas viagens, sua família. Vale lembrar que era um momento de disseminação de câmeras mais fáceis de manusear, bem como o aparecimento de filmes e serviços que permitiam que qualquer um fotografasse, a exemplo da Kodak com seu slogan : “você aperta o botão e nós fazemos o resto”. “O movimento fotoclubista surgiu como uma reação amadorista à massificação da produção fotográfica predominante” 72 . No início teve forte alinhamento com a corrente pictorialista e foi um fenômeno internacional. No Brasil, surgiu nas principais capitais e em algumas cidades maiores do interior e foi responsável por uma fatia importante da produção fotográfica nacional – principalmente no contexto da fotografia moderna brasileira.
Nomes como Thomaz Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca são alguns exemplos provenientes do interior de fotoclubes como o Bandeirante, certamente o mais importante no país, fundado em 1939 – em funcionamento até hoje. O experimentalismo – iniciando com o pictorialismo, mas passando até pelo surrealismo e outras influências que eram trazidas do que se fazia no exterior – era uma característica desses grupos e resultou em renovações e novas pesquisas técnicas e estéticas. A troca de informações entre os integrantes era outro ponto forte. Mas o que
72 COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p.22.
o caracterizava como um clube fechado, ou seja, a busca por uma diferenciação em relação a “outros fotógrafos” era responsável por um marcante traço de competitividade interna. Além de concursos, salões e outras formas de disputa, foram registrados até duelos fotográficos, onde um integrante desafiava um outro rival para tirarem a limpo qual dos dois era melhor fotógrafo: as regras eram definidas e os resultados eram julgados por uma banca73.
Desenho 1: os fotógrafos (círculos menores) estão ligados ao fotoclube, mas mantêm uma individualidade entre si e os objetivos estão voltados para o centro do clube, sem ligações externas, necessariamente.
O movimento fotoclubista aglutinou fotógrafos, gerou troca de informações e amadurecimento das produções, estimulou a experimentação, com forte intercâmbio entre clubes
73 COSTA; SILVA, 2004, p.24.
– tanto nacional quanto internacionalmente – e foi responsável por um grande número de salões, exposições e publicações. Mas, permeando tudo isso, “a vida do fotógrafo no interior dos fotoclubes era marcada pela competição. Havia uma hierarquia que classificava os sócios dos clubes em categorias, segundo o seu nível de aperfeiçoamento”74. Como é característica de um clube, embora promova a junção de muitos fotógrafos, a individualidade é mantida – ou até exacerbada, como nos traços competitivos observados. As atenções voltam-se para o centro do clube, mas as ligações externas são feitas isoladamente. Se essas organizações surgem com o intuito primeiro de se diferenciar das demais práticas fotográficas, não é difícil de constatar que esse aspecto de distanciamento e exclusividade, de deixar demarcados os limites, permeia todo o conceito e funcionamento dos fotoclubes.
Não devemos confundir esse modelo com associações e sindicatos, que não são aqui analisados com maior profundidade, pois já trazem nos seus objetivos uma maior distância em relação às questões que estamos trabalhando. Embora, legalmente, uma associação possa ser qualquer entidade sem fins lucrativos que reúna pessoas em torno de objetivos em comum, uma definição que poderia muito bem comportar um coletivo, as associações de fotógrafos atuam mais comumente no viés da defesa dos interesses profissionais de uma categoria, como é o caso das várias Associações de Repórteres Fotográficos (ARFOC) espalhadas pelo país, em geral ligadas ou trabalhando em parceria com sindicatos. Estes, por sua vez, possuem uma denominação mais diretamente correlacionada aos direitos profissionais. Tais escopos fogem completamente da proposta da atual pesquisa. Algumas agências fotográficas, no entanto, surgem também com objetivos de defesa de direitos e valorização dos fotógrafos, porém numa perspectiva produtiva ou de mercado e de articulação da linguagem.
74 COSTA; SILVA, 2004, p.23.
1.7.2 Agências
fotográficas
Os primeiros registros de agências fotográficas remontam ainda ao século XIX. Keneth Kobré relata a experiência de George Granthan Bain, que, em 1895, era fotógrafo e redator de jornal e iniciou a Bain News Photographic Service, em NY. Sua ideia foi acumular fotografias e vendê-las a assinantes. Ele catalogava e indexava fotografias que comprava de correspondentes e jornais de várias partes do país. Fazia reproduções dessas imagens e enviava as cópias para sua lista de assinantes. Seu negócio expandiu rapidamente e, em 1905, ele já havia comprado mais de um milhão de fotografias. Era um modelo focado na distribuição: comprava, reproduzia e distribuía. O ponto-chave aqui era a circulação. Não havia uma preocupação com a produção, não temos referências aos fotógrafos responsáveis pela produção das imagens. Estes eram apenas fornecedores de uma cadeia muito maior. Várias outras experiências seguiram esse mesmo modelo de distribuição, a ponto de agências de notícias começarem a incorporar o produto “fotografia” em seu menu de serviços oferecidos aos clientes assinantes. Outros autores consideram as experiências de Mathew Brady, já citada, e de outros empreendedores das primeiras décadas da fotografia como as iniciativas precursoras desse modelo de captação e distribuição de imagens. Tais divergências estão relacionadas ao fato de que a fotografia só pode ser impressa diretamente a partir dos anos 1880: uns só passam a contar a história da fotografia de imprensa a partir desta data, enquanto outros já consideram os negócios que se baseavam em fotografia embora o resultado impresso fossem gravuras. Isso não interfere no nosso debate, pois o interessante é perceber como essa ideia de acumulação e distribuição já estava presente desde o início – da fotografia ou do seu uso na imprensa. Já no século XX, é possível estabelecermos três principais
categorias de experiências sob a designação de agências fotográficas, inspirados no texto de Luis Humberto, de 198375. A primeira delas é representada pelas agências internacionais, grandes corporações globalizadas, que fazem circular um volume monstruoso de imagens, originadas e dirigidas a todas as partes do mundo. É um formato de trabalho que se assemelha à experiência precursora de George Bain, citada anteriormente. O que interessa é o potencial comercial da imagem, que está centrado no assunto, na agilidade e nos valores de noticiabilidade. Embora possam ter formatos diversificados e produtos específicos variando de empresa a empresa, o núcleo do negócio está na distribuição e neste mercado o que conta é a rapidez com que um assunto de interesse chega ao veículo que está comprando. O fotógrafo não é, necessariamente, o mais importante nessa relação: o que conta é o produto ou serviço e ganha a imagem que chegar primeiro. Claro que a imagem não existe sem o fotógrafo e muitos fotógrafos serão valorizados por suas agências, mas isso acontece muito mais numa escala de fornecimento desse produto noticioso. Nesse modelo é comum o uso de fotógrafos freelancers ou mesmo a compra de imagens produzidas por amadores. Grande parte do volume comercializado é fruto de compras isoladas, de fotografias que são oferecidas e negociadas sem um contrato fixo com o fotógrafo. Como exemplos, podemos citar a Agence France Presse (AFP) ou a Reuters. Possuem escritórios nas principais cidades do mundo, atendem clientes ao redor do globo.
A agilidade é fator fundamental nessas agências uma vez que, por um lado, existem clientes necessitando das imagens mais recentes para fecharem suas edições a todo instante: por conta do atendimento global, sempre há algum fuso-horário em fechamento. Por outro lado, é comum que seus clientes sejam aten-
75 HUMBERTO, Luis. Sobre agências fotográficas. In: Fotografia: universos e arrabaldes. Rio de Janeiro: Funarte, 1983.
didos por outras agências concorrentes e, na urgência de dar a notícia em primeira mão, comprarão o material que for oferecido mais rapidamente. A pesquisa e os investimentos em tecnologias de transmissão de arquivos, por exemplo, é parte integrante deste nicho. Grandes eventos esportivos como as Olimpíadas são espécies de laboratórios de novas maneiras de captação e de distribuição das produções. Muito do que hoje está na mão do usuário comum em termos de tecnologia foi experimentado pelas agências tempos atrás, a exemplo das câmeras digitais.
As agências podem trabalhar com pacotes e assinaturas fixas, em que o cliente tem acesso a um volume diário de imagens com liberdade de uso, ou pela venda individual ou contratação de pacotes especiais. Neste último, em geral sobre grandes temas jornalísticos, a agência busca se diferenciar da oferta mais usual, por meio de um contrato especial de exclusividade em relação a determinado recorte diferenciado da produção. O que acontece é que há uma pasteurização do material apresentado pelas diversas agências e a maioria dos pacotes comuns não dão exclusividade, de modo que dois jornais concorrentes muitas vezes estampam a mesma fotografia em suas capas. Do ponto de vista das agências, o alvo é o volume de vendas, de modo que um fato jornalístico que desencadeie um interesse mais amplo, vendendo para veículos de várias partes do mundo, será mais cobiçado que um outro extremamente importante localmente, mas sem tanta evidência em outras regiões ou países. Por isso as agências mais fortes são as que conseguem essa distribuição mundial. Um efeito colateral disso é a globalização dos assuntos e um predomínio de uma visão eurocêntrica/norte-americana. Grande parte do que consumimos de imagens – e de notícias de um modo geral – hoje nos veículos passa por agências desse tipo. A maioria tem a fotografia como um de seus produtos, faz parte de um cardápio onde estão textos, imagens de vídeo, gráficos, informações econômicas e gravações
de áudio, entre outros serviços.
Desenho 2: Os fotógrafos, aqui representados por círculos pequenos, estão ligados à agência (círculo grande), que faz a mediação com o mercado (quadrados), num modelo linear ou arborescente.
Um segundo modelo é o das agências vinculadas a veículos de comunicação, aquelas que comercializam o subproduto de suas editorias de fotografia, as sobras diárias, o excedente do volume produzido para os jornais, revistas e portais do grupo. Enquanto na categoria anterior, o fluxo se dá em mão dupla, pois a agência capta material ao redor do mundo para então distribuir aos assinantes, no modelo vinculado aos veículos o fluxo segue uma lógica centrífuga de mão única, tendo como o centro o veículo produtor das imagens. O objetivo neste caso é dar maior renta-
bilidade aos investimentos de produção, buscando ampliar a possibilidade de retorno. Imaginemos um grupo que possui diversos jornais. Diariamente esses jornais produzem um enorme volume de fotografias sobre os mais diversos assuntos de interesse jornalístico. Uma ou duas imagens de cada pauta ilustrará suas páginas e o restante será “descartado”: essa é a lógica da produção fotográfica, na qual produzimos um volume grande de fotos com a intenção de escolhermos as melhores. A possibilidade de vender esse material descartado a outros jornais se mostra como uma oportunidade de rentabilizar os ganhos da empresa, ou, pelo menos, minimizar os custos. Hoje muitos veículos desenvolveram suas próprias agências ou se associaram a outras já existentes no mercado para aproveitarem essa possibilidade.
Algumas delas, com o aumento de volume de circulação de suas imagens, ampliaram seu relacionamento com o mercado mesclando características da primeira categoria, fundando um modelo híbrido que é vinculado a grupos de comunicação e operam nessa lógica de comercialização de produção própria, mas que aproveitam a articulação com a rede de assinantes para captar imagens de interesse de seus veículos e incorporam tais imagens na sua oferta. São agências “nacionais” como a Agestado, ou Folhapress. Embora tenha parte de seu volume de negócios representado por uma lógica de captação/distribuição, optamos por enquadrá-la na segunda categoria, pois o que predomina é o direcionamento do veículo ao qual está vinculada. Como regra geral, essas empresas não fornecem – nem compram – material para os concorrentes diretos de seus veículos: continuam sendo estruturas internas, condicionadas à comercialização do subproduto, subordinadas aos interesses do grupo do qual fazem parte. Na sua apresentação, a Folhapress explica que “comercializa e distribui diariamente fotos, textos, colunas, ilustrações e infográficos considerando o conteúdo editorial do jornal Folha
de S.Paulo, do jornal ‘Agora’ e de parceiros em todos os Estados do país76”. Os contratos de cessão de direitos autorais assinados por fotógrafos fornecedores para os veículos do Grupo Folha – ao qual a Folhapress está vinculada – podem ter cláusulas incluindo a possibilidade de venda do material produzido pela agência, por exemplo. Em tempos de investimentos cada vez mais enxutos nas estruturas dos veículos, incluindo cortes de gastos com viagens e grandes reportagens, a proliferação de agências vinculadas a veículos se mostrou rentável tanto pela possibilidade de revender seus excedentes quanto por uma maior diversidade de oferta. Se antes um jornal mineiro enviava correspondentes para cobrir um jogo de um time de seu estado que acontecia na Paraíba, por exemplo, hoje ele simplesmente compra uma fotografia produzida por um jornal paraibano desta mesma partida, por um valor irrisório em comparação com os custos de cobertura. Do ponto de vista do fotógrafo funcionário dos veículos, esse modelo pode significar também uma melhoria de rendimentos, quando há o repasse de parte das vendas, uma participação nos rendimentos, um direito assegurado pelas leis em vigor. No entanto muitos veículos não chegaram a soluções administrativas nesse sentido, de modo que não repassam nada aos autores. Na agência vinculada a veículos a atenção é colocada na possibilidade de venda do material descartado pelas edições de seus veículos. Aqui a tônica é a mais-valia e, naturalmente, o fotógrafo é parte de uma engrenagem maior.
Por fim, temos a experiência das agências formadas por fotógrafos, muitas delas organizadas no modo de cooperativas. Estas trazem em seus objetivos uma maior valorização e reconhecimento do fotógrafo e de sua atividade, colocam em pauta, consequentemente, questões de respeito ao direito autoral. De certa maneira se contrapõem aos modelos anteriores, buscando
76 Apresentação disponível no site da agência: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/ conheca_a_folhapress.shtml. Acesso em: 27 dez. 2014.
uma maior autonomia dos fotógrafos, mesmo que atuando no mesmo mercado e por meio de um fluxo de distribuição. O principal exemplo é a francesa Magnum, fundada em 1947 por fotógrafos como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymor “Chim” e George Rodger. O surgimento da Magnum, inspiradora até hoje de muitas outras iniciativas, se confunde com a trajetória de Capa, reconhecido como o maior fotógrafo de guerra de todos os tempos.
A história de Endre Friedman e Gerda Taro, já contada neste capítulo, com um trabalho colaborativo, sob uma assinatura conjunta, é um embrião para várias das questões que permeariam não apenas a existência da agência Magnum, como também das práticas coletivas mais atuais. Olhando com o distanciamento do tempo, a conclusão mais direta que tiramos da experiência deste casal é de que foi uma estratégia que driblava as dificuldades causadas por sua condição de imigrantes, imprimindo uma marca que agia na valorização de seu trabalho.
É de Robert Capa que emana o desejo maior de criação de uma estrutura que permitisse lutar pelo reconhecimento dos fotógrafos, que possibilitasse a administração dos direitos autorais, garantida pela posse dos negativos. Até então, era praxe que o filme fosse entregue ao jornal ou revista contratante assim que fosse exposto, onde seria revelado e arquivado, sem que o fotógrafo tivesse domínio nem retorno sobre as utilizações posteriores.
Antes da guerra, a Magnum já vinha se formatando. Quando estava no front da Espanha, Robert Capa muitas vezes a evocava em suas cartas e conversas. Ele tinha apenas uma ideia, mas era uma ideia fixa: o fotógrafo não deve ser desapossado de seus negativos, seu único bem. Todo o resto deriva disso: defender os interesses dos fotógrafos, fazê-los proprietários de seus negativos, permitir-lhes vender os direitos de reprodução um a um, assegurar sua
independência diante da ganância dos jornais, garantir o controle sobre o uso que os jornais farão de suas fotos, autorizá-los a eventualmente recusar encomendas, pois em “encomendar” há “comandar”… Sua intenção não era criar uma agência como as que já existiam, com patrões e empregados, mas uma verdadeira cooperativa, única maneira de preservar a liberdade de cada um, pertencente aos fotógrafos para seu benefício exclusivo77 .
“Por que sermos explorados por outros?”, teria perguntado Capa a Gisèle Freund, “Vamos explorar nós mesmos”. A partir desta instigação, contatou vários fotógrafos e, num almoço regado a champanhe no segundo andar do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, decidem fundar a Magnum78. Ela surge com esses objetivos, formando uma espécie de blindagem que asseguraria uma independência de produção dos fotógrafos, associada a uma logística de comercialização que garantisse retorno suficiente para o seu sustento financeiro. É um modelo de viabilização comercial focado na valorização da atividade fotográfica e do fotógrafo. O biógrafo de Cartier-Bresson afirma que “a Magnum lhe concede a liberdade primordial da independência. Ela permite que o fotógrafo fique isolado sem ficar solitário. É a associação ideal para um individualista dotado de espírito de equipe”79 .
Esta proteção dos direitos ajudou fotógrafos da Magnum a sobreviver financeiramente, o que lhes permite dedicar uma quantidade significativa de tempo de trabalho em grandes histórias, seja em pautas encomendadas ou por sua própria iniciativa, e, em seguida, vender ou revender seus trabalhos para publicações em muitos países para sustentar a si e seus projetos futuros. Ao mesmo tempo que contribuiu para um sentimento fortalecido de auto-
77 ASSOULINE, Pierre. Cartier-Bresson: o olhar do século. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 181.
78 KERSHAW, 2004, p. 180.
79 ASSOULINE, 2008, p. 184.
ria, a criação de novos mercados para o seu trabalho, e uma maior capacidade para controlar seu uso (por exemplo, os fotógrafos podem recusar-se a ter suas fotos vendidas a uma publicação cujo ponto de vista eles acham repugnante)80
Russel Miller, que a enxerga como uma família, destaca a liberdade e a qualidade como aspectos fundamentais: “potencial financeiro é considerado secundário para a qualidade, mas personalidade e dedicação são importantes81”. Uma família, como muitas outras, que acumula muitos desentendimentos, diferenças de personalidade entre seus integrantes, com uma rotina nem sempre harmoniosa:
Se ainda hoje o modelo da Magnum inspira novas iniciativas, como o da agência Noor, sediada na Holanda e formada por fotógrafos com boas colocações no mercado mundial 82 , a agência fundada por Robert Capa teve muita influência no surgimento de diversos grupos ao longo das suas muitas décadas de existência. O Brasil dos anos 1980 viveu a fundação de várias agências de fotógrafos. Segundo as pesquisadoras Angela Magalhães e Nadja Peregrino, as agências vinculadas a empresas jornalísticas desconsideravam os fotógrafos no processo de discussão das pautas e não davam a eles nenhum direito sobre o produto de seu trabalho. A alternativa para essa
80 Tradução livre para: “this safeguarding of rights helped Magnum photographers to survive financially, allowing them to spend significant amounts of time working on major stories, either on assignment or at their own initiative, and then to sell or resell their work to publications in many countries to support themselves and their future ventures. At the same time, this contributed to a strengthened sense of authorship, the creation of new markets for their work, and an enhanced ability to control its uses (for example, photographers can refuse to have their pictures sold to a publication whose point of view they find abhorrent” (RITCHIN, Fred. What is Magnum?. In In our time: the world as seen by Magnum photographers. New York. W. W. Norton, 1989., p. 418).
81 Tradução livre para “financial potential is considered secondary to quality, but personality and dedication are important” (MILLER, Russel. Magnum: fifty years at the front line of history. New York: Grove Press, 1997, p. X).
82 Ver entrevista com Stanley Greene, fundador da Noor. Na ocasião ele também faz uma crítica ao modelo de “supermercado de imagens”. Em http://afdeautofoco.blogspot.com/2008/11/agncianoor-entrevista-com-stanley.html#links.
“situação-limite” de marginalização em relação à sua própria criação seriam as agências independentes: “um caminho de luta para o direito autoral, aliando o senso estético e uma produção fotográfica mais crítica, que se distanciava da linguagem superficial e fragmentada da imprensa diária”, buscando o respeito ao fotógrafo, bem como o patrocínio para seus projetos pessoais 83 .
Não se pode esquecer também de que o país passava por mudanças profundas com a abertura política, o fortalecimento de ações populares e coletivas, crescimento dos sindicatos e associações. Se por um lado as práticas associativas e cooperativas estavam fortalecidas – influenciando também as estratégias e articulações em grupos –, por outro lado era um momento de grande efervescência da sociedade, com muitos temas a serem explorados. As agências se nutrem dessas transformações. Como inspiração e estímulo, mas também como fonte de pautas e projetos fotográficos. A F4, fundada em São Paulo por Delfim Martins, Juca Martins, Nair Benedicto e Ricardo Malta é um dos principais exemplos. “No início, a F4 se confunde com o surgimento do movimento sindical do ABC, pois em pouquíssimo tempo, percebendo a importância histórica do fato, os seus fotógrafos formaram um dos maiores acervos sobre o assunto” 84. Além de também formar um núcleo no Rio de Janeiro, a F4 teve um papel importante no fortalecimento da discussão sobre a fotografia brasileira e sua profissionalização, promovendo reuniões e eventos, além de publicações e exposições. A motivação ultrapassava a simples comercialização de imagens, buscando uma maior exploração a aprofundamento da linguagem, através de projetos especiais e maior dedicação na cobertura de um assunto. Preceitos com -
83 MAGALHÃES, Angela; PEREGRINO, Nadja. Fotografia no Brasil: um olhar das origens ao contemporâneo. Rio de Janeiro: Funarte, 2004, p. 88.
84 MAGALHÃES; PEREGRINO, 2004, p. 91.
partilhados não só com o exemplo citado da agência francesa, mas deste modelo de iniciativas fundadas por fotógrafos.
Assim como citamos o caso das agências ligadas a veículos, que existem como forma de rentabilizar os excedentes de produção, uma outra prática comum no meio fotográfico é o do banco de imagens. É natural que um fotógrafo ou uma agência acumule um acervo de imagens, produzidas ao longo de sua existência. Fotógrafos, jornais, agências, todos eles possuem seus próprios arquivos fotográficos, tendo a possibilidade de negociar tais imagens para o uso publicitário, editorial ou corporativo. Existem empresas especializadas nesse tipo de material, trabalhando exclusivamente com fotografias de arquivo: os bancos de imagens, fotoarquivos ou stockphotos. É um formato completamente focado no produto, nas imagens, e não no fotógrafo. Mesmo que o fluxo de negócio possa se parecer com o modelo das agências internacionais, de captação de imagens e distribuição, ele não nos remete a uma relação entre fotógrafos. Não se trata de um agrupamento de fotógrafos e sim uma “prateleira” de fotos. As imagens ganham mais poder de vendas quanto mais descontextualizadas forem, no sentido de que podem se “encaixar” em muitos discursos diferentes. É um modelo que movimentou um grande volume de imagens durante algumas décadas, mas que sofreu um impacto muito grande com a chegada da cultura digital e do compartilhamento de imagens. O nível de interação ou de sentido de grupo é praticamente – senão absolutamente – nulo neste tipo de iniciativa, por isso não está no foco de nossas investigações. O Sambaphoto (www.sambaphoto.com), o Kino (www.kino.com.br) e o LatinStock (www.latinstock.com. br) são alguns exemplos de fotoarquivos atuantes no Brasil.
1.7.3
Farm Security Administration
Nesta nossa busca por observar modelos que agruparam fotógrafos, vale a pena incluir o Farm Security Administration (FSA), que não é agência nem fotoclube, mas que foi um importante exemplo de produção fotográfica que congregou diversos fotógrafos, responsável por um denso capítulo da história da fotografia americana. É curioso que essa sigla se refira a um programa do New Deal85, localizado mais especificamente no Departamento de Agricultura. Sob a direção de Roy Stryker, empregou fotógrafos como Walker Evans, Dorothea Lange e Gordon Parks, entre muitos outros, que tinham a tarefa de viajar pelo interior dos EUA, registrando as pessoas, as construções, as paisagens, os costumes, a miséria, enfim, nas palavras de seu diretor, “apresentar a América para os americanos”. Acabou por ser uma das maiores coleções/produções de fotografia dos EUA, hoje arquivada na Biblioteca do Congresso, com mais de 160 mil imagens. Os fotógrafos do FSA seguiam para campo com uma extensa pauta definida por Stryker, que chegava a pormenores como “imagens de homens, mulheres e crianças que tenham verdadeira fé nos Estados Unidos”. Era Stryker também o primeiro a analisar os filmes revelados e editá-los de acordo com sua visão. Ele é acusado de ser, ao mesmo tempo, o criador e o destruidor de um grande volume de imagens: se existe todo esse material arquivado, outro tanto foi para o lixo, destruído logo após ser revelado e editado. As fotografias produzidas eram destinadas à imprensa, a peças do governo e também ao público em geral, que poderia adquirir essas imagens para uso pessoal. “Como escreveu Stryker: ‘o volume total, e é um volume assombroso, tem uma
85 Uma série de programas do governo Roosevelt, com o intuito de recuperar a economia americana da Grande Depressão, após o Crash da Bolsa de Valores (1929), que incluía ações de vários tipos, como diminuição da jornada de trabalho, fixação do homem no campo, reestruturação de pequenos agricultores que foram à falência, entre outras.
riqueza e uma distinção que não se desprende simplesmente das próprias imagens individuais’86”. Foi um projeto de documentação de uma envergadura sem precedentes na história, que agrupou diversos fotógrafos em torno de um objetivo específico e foi responsável pela formação de um acervo valioso. Mesmo proporcionando um resultado compartilhado, a equipe era pautada e dirigida por uma personalidade reconhecidamente centralizadora. Os fotógrafos do FSA tinham o projeto como um cliente ou empregador: não havia integração entre eles, recebiam pautas e as executavam de maneira independente.
Embora essas experiências abordadas tragam grupos de fotógrafos trabalhando em objetivos comuns, em todas elas podemos observar a permanência de um fazer individualizado na ponta do processo. Mesmo que a comercialização, ou a articulação logística, ou os objetivos temáticos ou políticos sejam coletivizados, na outra ponta existe a figura do indivíduo fotógrafo, responsável pelo produto final, entendido como autor das imagens – mais ou menos valorizado dependendo da situação.
Temos aí, então, uma primeira diferença entre o nosso objeto de pesquisa – o coletivo fotográfico contemporâneo – e as demais iniciativas: o entendimento tácito entre os integrantes de que há um maior peso das discussões e amadurecimento dos trabalhos via troca de ideias e de críticas. Mais do que isso, o reconhecimento das contribuições do grupo na composição da obra. O resultado final é percebido como fruto dessa interação e troca. O grupo tem uma participação ativa nos resultados, é assim que o processo é entendido. O que nos remete a perceber um foco no processo e não na estrutura ou no resultado: não é necessariamente uma razão social, um organograma ou um produto que vão definir o coletivo. A resposta de “o que” são passa pelo
86 Quando Tagg cita Stryker, há uma nota de rodapé fazendo referência a “Stryker, ‘The FSA Collection of Photographs’, p.7, sem maiores detalhes da obra citada (TAGG, 2005, p. 220).
“como” são. Abordaremos o processo mais adiante. Essa diferença pode passar por acúmulos ou sobreposições. O coletivo dá alguns passos adiante: ele pode ter um tratamento similar a uma agência no que se refere à infraestrutura ou cadeia comercial, mas soma a isso o compartilhamento do fotográfico, afasta ideias de individualidade, tão presentes no que é mais comumente associado aos que fazem fotografia, aos fotógrafos.
Pelas experiências estudadas, consideramos que o modelo “agência” é o que possui mais pontos de contato com o “coletivo contemporâneo”, suas estruturas de funcionamento se confundem em alguns casos. Não raro veremos agências funcionando como coletivos e vice-versa. Mas a observação dos outros modelos aqui analisados nos facilita um foco mais seletivo. O fotoclube trouxe a pesquisa estética e a renovação para a fotografia. São fotógrafos com características e paixões diferentes, trocando ideias e influências, num constante amadurecimento e crescimento da linguagem fotográfica. Mas, ao mesmo tempo, eles mantêm um forte traço competitivo e individualista. Além disso, as relações externas não acontecem, via de regra, pelo fotoclube, mas também numa relação direta entre o fotógrafo e o mercado, ou mesmo não há esse desdobramento – o caso de amadores que produzem para si e não possuem clientes ou não participam de exposições.
Traremos um maior detalhamento comparativo entre agências e coletivos, mas antes é necessário que conheçamos o cenário no qual surge o novo modelo, pois acreditamos que ele é um ingrediente importante nessa receita.
CAPÍTULO 2
O CENÁRIO PÓS-FOTOGRÁFICO
Using the camera only to provide answers and not questions is to underestimate what the camera can do Fred Ritchin
Escrevemos o Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente
Gilles Deleuze e Félix Guattari
A sociedade vem mudando. Os paradigmas da imagem – e da fotografia – também acompanham essas mudanças. A fotografia hoje é outra, em relação àquela das primeiras horas. Quais foram essas mudanças? Qual esse novo cenário que se apresenta? Destacaremos e relacionaremos alguns aspectos que consideramos importantes na formação de um pano de fundo fundamental para o surgimento de novas articulações no campo da imagem, do fazer fotográfico coletivizado. “A imagem não se reduz a sua visualidade […]; participam processos que a produzem e pensamentos que a sustentam, […] cada sociedade necessita uma imagem à sua semelhança”87 .
O lugar do sujeito na fotografia, como vimos, é algo que muda a cada época: primeiro ele é deixado de fora, substituído pela máquina; depois se inscreve como proprietário de um olhar único, pessoal. Hoje há uma expansão nos limites do nosso enten-
87 (FONTCUBERTA, Joan. La cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p.12). Tradução livre para “la imagen no se reduce a su visibilidad,[...] participan procesos que la producen y pensamientos que la sustentan, [...] cada sociedad necesita una imagen a su semejanza”.
dimento sobre a fotografia: ela deixa de ser um recorte de tempo e espaço na forma como foi até então pensado, insere no seu fazer tempos expandidos, relativiza essas definições88, só para ficar nas mais elementares. Colocando em perspectiva sujeito e processo, podemos afirmar que o coletivo fotográfico contribui para uma expansão do lugar do sujeito, algo que acontece sincronicamente à diluição do autor na arte contemporânea, por exemplo, ou em paralelo à liberação do polo emissor89, do ponto de vista da cibercultura, como veremos mais adiante. Se alguns autores fazem fotografia lançando mão de imagens produzidas por outros fotógrafos, os coletivos operam nessa inclusão de outros sujeitos já na sua organização e articulação com o meio.
A aparição do sujeito na fotografia, com maior ou menor importância, é comparada a um movimento pendular por Rouillé90 . A nosso ver, trata-se não de um movimento do pêndulo de um relógio, que se desloca em uma trajetória determinada, em um compasso, um ritmo, um vaivém milimetricamente programado: ele não vai nem mais nem menos além do que aquele percurso definido. É melhor a imagem de uma criança num balanço de um parquinho, onde ela se joga, de uma maneira bem mais livre, em movimentos que vão de um lado para o outro, sem uma rigidez, sem um limite. Na verdade ela está brincando com o limite, ela está experimentando até onde vai, ora mais alto, ora com menos impulso. O fenômeno que aqui abordamos também desenha trajetórias que se definem enquanto são desenhadas. Também não queremos cair no erro de encarar as inovações como substituições
88 As anamorfoses cronotópicas de Arlindo Machado, a fotografia imersiva ou de 360 graus, a articulação com áudio, são apenas alguns exemplos de um fazer fotográfico que extrapola as definições precedentes.
89 A liberação do polo emissor é uma das leis fundadoras da Cibercultura, segundo André Lemos (2005), e tem como característica a passagem de um modelo de massificação da comunicação, onde a emissão é concentrada na mão de poucos (o paradigma de um-todos), para uma democratização que possibilita uma maior participação de todos na difusão de conteúdos comunicacionais (a lógica de todos-todos).
90 ROUILLÉ, 2009.
da tradição. Novas teorias, novas tecnologias se alimentam das anteriores, num rico processo de negociação e mútua influência.
Para Michel Callon, “o mundo novo resulta de um empreendimento coletivo feito de vontades e interesses individuais que negociam e, gradualmente, constroem uma casa comum”91.
O século XXI convive com o surgimento de um modelo de articulação que lança novas questões para o campo da fotografia.
Um fenômeno que, assim como os outros abordados nesse trabalho, estão intimamente ligados, influenciados ou estimulados pelas práticas sociais vigentes, pela inter-relação direta com as tecnologias em voga e, principalmente, com os usos sociais dessas tecnologias. Estamos falando dos coletivos fotográficos contemporâneos. A prática do coletivo insere questões no que se refere a uma expansão do lugar do sujeito na fotografia da contemporaneidade. O sujeito antes não existia, depois passa a ser o proprietário de um olhar transcendental, pessoal, mágico.
Agora ele amplia esse raio de operação para a inserção de vários olhares, de vários momentos, de tempos diferentes, estamos expandindo esses limites.
A fotografia quebra a relação com o recorte – de um tempo, de um espaço –, ela relativiza todos esses limites e essa expansão atinge também o papel do sujeito, na forma de vários sujeitos sendo inseridos no ato. Lidamos com imagens 360o ou imersivas, nas quais não existem os limites da borda e podemos navegar em qualquer direção, para cima, para baixo para os lados, perdendo a noção de enquadramento. Neste tipo de fotografia, muito comum em diversas aplicações que vão do entretenimento até a visita virtual a museus ou plantas industriais, perdemos as referências de iluminação – lateral, contraluz, etc. – temos experiências distintas de acordo com nossas decisões. É uma fotografia resultante de
91 CALLON, Michel. Por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do mercado. In: PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010, p.72.
diversas tomadas distintas unidas e adaptadas, buscando a perfeição de uma panorâmica sem emendas, como se estivéssemos no local fotografado, podendo escolher para que ângulo olhar.
A exploração de muitas tomadas, a composição entre elas na geração de novos sentidos e experiências não é algo novo.
A busca por quebrar o conceito de recorte de tempo, unindo “diversos tempos distintos” numa só imagem, isso sempre existiu.
As anamorfoses cronotópicas não esperaram o advento do digital para existirem. Mas, sem nenhuma dúvida, as tecnologias digitais são o ambiente perfeito para essas experiências, principalmente pelo viés da facilidade de acesso. O que era algo trabalhoso, meticuloso e que demandava uma estrutura para sua exposição e fruição, hoje é feito automaticamente por câmeras muito simples, são acessados pelos usuários de internet sem maiores deslumbramentos. As transformações operadas pela cultura digital na nossa sociedade vêm modificando nossa relação com a fotografia, ampliando o horizonte de articulações tanto para quem está observando, quanto para quem está produzindo uma imagem, lembrando que esses dois atores são cada vez mais indissociáveis.
O coletivo é uma dessas possibilidades – outras práticas contemporâneas também atuam nesse sentido. O coletivo é uma atualização de um virtual (de um devir), que também é refletido em outras formas do fazer fotográfico contemporâneo.
No nosso entendimento, o fenômeno que estudamos não poderia ter surgido – com a representatividade que tem – em um cenário diferente desse que se descortina no final do século XX e início do século XXI: uma sociedade pós-industrial, fortemente estimulada pelos usos sociais de novas tecnologias, onde as articulações em rede tomam proporções – e apropriações – antes não imaginadas. Aqui nós não podemos ficar pensando em tecnologia como um deslumbramento do aparato, do novo gadget, do novo aplicativo, mas sim tecnologia como algo mais amplo, que atua
na maneira como desencadeamos determinados processos, na ampliação de resultados.
Se o advento da escrita ou da imprensa trouxe mudanças em praticamente todas as esferas sociais, a digitalização e a consequente interconexão têm operado transformações fabulosas em nossas maneiras de trabalhar, de sociabilizar, de criar, de aprender e de pensar. Uma interconexão que acontece entre pessoas, mas também entre linguagens. Apenas para ficar em um exemplo, lidamos com texto, foto, som, matemática, tudo em um só aparato tecnológico. Quando trazemos tudo para um denominador comum, potencializamos as formas de integração e de apropriação, de troca e de conexão. O que estamos chamando de “denominador comum” não é o aparelho em si, mas o que está por trás disso, o elemento constituinte dos processos, o fato de transformarmos imagem, som, texto, tudo em informação digital, que pode ser processada por um mesmo equipamento: há uma unificação do “material”, o que permite uma multiplicidade inimaginável de resultantes. “A sucessão da oralidade, da escrita e da informática como modos fundamentais de gestão social do conhecimento não se dá por simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento de centros de gravidade”92 .
Consideramos importante tornar mais nítida a imagem deste cenário contemporâneo, que acreditamos estimular o surgimento, com maior intensidade, dos coletivos fotográficos.
Traremos para a discussão alguns conceitos. As práticas colaborativas abordadas no capítulo anterior – agências e fotoclubes – estão para a lógica do industrial assim como os coletivos contemporâneos estão para a lógica pós-industrial, da cibercultura, ou mesmo da pós-fotografia.
92 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Tradução de Carlos Irineu da Costa - São Paulo: Ed. 34, 2010, p. 10.
2.1 Cultura de convergência
Estamos observando grandes transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais. Henry Jenkins93 considera que um conceito consegue dar conta de tais transformações: a convergência. Para ele, não devemos dar ouvidos simplesmente à ideia de unir múltiplas funções num só aparelho, como é comumente citado o termo, mas devemos pensar a convergência como um “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação”94. Não é nos aparelhos onde ocorre a convergência, mas nos cérebros dos consumidores e nas interações sociais que eles promovem com os outros. Há uma reconfiguração de nossa relação com as mídias, tanto no âmbito de consumo quanto de produção, incentivando a inteligência coletiva e possibilitando novas formas de participação e colaboração. “A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de marketing”95. Isso diz respeito à ideia de cultura participativa, em que o consumidor não é mais aquele ser passivo, que absorve os conteúdos nele despejados, mas sim o que tem uma atuação interativa, que participa da definição das regras e dos conteúdos, que adquire um poder de diálogo.
Essas mudanças estão relacionadas às novas tecnologias, tendo a internet como uma de suas principais forças. Fernandes Jr96 afirmou que “é impossível pensar a comunicação, e particularmente a fotografia, sem considerar a evolução tecnológica que move o
93 JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
94 JENKINS, 2009, p. 29.
95 JENKINS, 2009, p. 46.
96 FERNANDES JR, Rubens. As caixas de sapato e Pandora. Conferência no Paraty em Foco 5o. Festival Internacional de Fotografia Fnac, 2009.
motor das nossas sensações. Não podemos dissociar a tecnologia e as consequências que elas provocam em nossas percepções”. Para Crary97, existe uma relação direta entre dispositivos técnicos, visualidade e formas de pensamento. Arte e ciência devem ser entendidas como parte de um mesmo campo de conhecimento e prática. Não podemos dissociar um do outro: o dispositivo constrói o observador e vice-versa. Perdeu o sentido falarmos em telefones celulares, embora continuemos nos referindo assim a esses aparelhinhos, pois muitos deles quase não são utilizados para a telefonia, a comunicação entre duas pessoas através da transmissão do som de sua voz. A quantidade de funcionalidades reunidas nesses aparelhos são respostas ao desejo de seus usuários, mas esses mesmos desejos também são modificados pela oferta de funcionalidades, numa retroalimentação potente e constante, como acontece em todas as interações entre tecnologias e usuários.
A câmera obscura, por exemplo, nos séculos XVII e XVIII, era não apenas um artefato que auxiliava pintores e desenhistas na produção de seus trabalhos, mas servia também de modelo epistemológico para explicações sobre o funcionamento do olho humano ou mesmo para racionalizações do pensamento vigente. Trazendo para os nossos dias, não podemos pensar as novas configurações nas práticas do fotojornalismo sem observar a sincronicidade com a cultura digital, com a reorganização em rede da sociedade, com as mudanças trazidas, principalmente, pelas possibilidades da comunicação mediada por computador. Assim como acontecia no século XIX, como nos mostram os estudos empreendidos por Crary, podemos entender que hoje há uma mudança no regime da visualidade sendo operada por pressões e influências – mútuas – da cultura de convergência.
Segundo Castells, “a Internet está transformando a prática das empresas em sua relação com fornecedores e compradores,
97 CRARY, 1990.
em sua administração, em seu processo de produção”98. Além disso, a Internet também pode ser relacionada a um aumento na vida social com a família e os amigos. “Se alguma coisa pode ser dita, é que a Internet parece ter um efeito positivo sobre a interação social e tende a aumentar a exposição a outras fontes de informação”99. A formação de redes, embora uma prática antiga, foi energizada pela Internet. “Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura”100. Importante destacar que essas mudanças acontecem não apenas no âmbito da divulgação de trabalhos, na difusão de conteúdos ou na comunicação interpessoal, mas alcançam e influenciam novas lógicas de relacionamento, de pensamento e de produção.
O conceito de rede mistura diferentes níveis de significação e complexidade. Ele tanto comporta a conexão de elementos em interação, como também a imbricação de estruturas de conexão, umas pelas outras, assim como a interligação entre sistemas complexos. Podemos falar de redes formadas por redes secundárias e assim por diante. As redes “não são definidas por seus limites externos, mas por suas conexões internas”101, não possuem superfície ou fronteiras definidas. Suas conexões e interconexões podem se reconfigurar em possibilidades múltiplas. Não devemos aqui, para efeito do nosso estudo, permitir uma imagem de rede como algo estático, predefinido, fechado. A rede se faz nas ligações entre os “nós”, nas linhas que ligam os pontos.
98 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 56.
99 CASTELLS, 2003, p. 102.
100 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002, p. 565.
101 KASTRUP, Virgínia. A rede: uma figura empírica da ontologia do presente. In: PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010, p. 80.
2.2 Rizoma
Não podemos avançar numa discussão que envolve redes, pontos ligados por linhas, nós, sem tocarmos no conceito de rizoma, desenvolvido por Gilles Deleuze e Félix Guattari, em sua obra “Mil platôs”. Muito importante também para abordarmos as características da sociedade contemporânea, objeto também deste capítulo, o conceito de rizoma, comumente ligado às reflexões sobre redes, não pode ser confundido com algo dado, estático, em que necessariamente pontos específicos devam ser ligados eternamente: isso seria um grande desvio e até oposição aos princípios do rizoma. Os autores enumeram certas características aproximativas do rizoma. A primeira delas é o princípio de conexão, que estabelece que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo”102. Este modelo traz em si diferenças à figura da raiz ou da árvore, que possui um centro e uma ordem, onde os pontos seguem uma hierarquia ou uma cronologia, uma linearidade. No modelo rizomático, as conexões não seguem o princípio de causa e efeito, não seguem desdobramentos estabelecidos por uma ligação prévia, mas as ligações e a forma como elas se modificam a partir do contato é determinado mesmo pela interação entre os pontos.
O segundo princípio, o da heterogeneidade, permite que, além da conexão de um ponto qualquer com outro ponto qualquer, essas ligações não remetam necessariamente a naturezas mesmas: “ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes”103. O rizoma não tem começo nem fim, nem é feito de unidades de medidas, mas de variedades de medidas. Este é o princípio de multiplicidade. “Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude a natureza”104.
102 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15.
103 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32.
104 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16.
Um rizoma pode ser quebrado em qualquer ponto e retomado segundo uma ou outra de suas linhas, de acordo com o quarto princípio, o da ruptura a-significante. Todo rizoma é estratificado, territorializado, mas traz em si também “linhas de desterritorialização” que permitem fugas. Sempre que uma linha segmentar é quebrada, através das linhas de fuga, opera-se uma ruptura no rizoma. Porém essas linhas de fuga também fazem parte do rizoma. “Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco de reencontrar nela organizações que reestratificam o conjunto” 105. Por fim os autores trazem os princípios de cartografia e de decalcomania, que são opostos entre si. O rizoma não pode ser objeto de reprodução, daí a figura do mapa, cartografia, com suas construções, sua contribuição para a “conexão dos campos”, em oposição à lógica do decalque, que repete algo dado. O rizoma é mapa e não decalque. “O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente” 106. O mapa, e esta é uma das principais características do rizoma, tem múltiplas entradas enquanto que o decalque faz referência sempre a algo já estabelecido, a uma repetição, a um seguir, reproduzir. É interessante observarmos que Deleuze e Guattari colocam a decalcomania como um princípio e não apenas como uma oposição à cartografia. Isto porque “é preciso sempre projetar o decalque sobre o mapa”107, mas não de uma forma simétrica: ele injeta redundâncias, reproduz os impasses e os pontos de estruturação.
O rizoma, pois, se faz nas ligações entre um ponto qualquer e outro ponto qualquer, nas linhas que ligam esses pontos, mas também nas linhas de fuga, na multiplicidade cuja variabilidade interfere na natureza própria do todo. “Um platô está sempre no
105 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18.
106 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22.
107 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 23.
meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs”108. Virgínia Kastrup reforça essa ideia: “o rizoma não possui limites definidos, não é uma forma, mas condição de existência das formas. É um tipo de ‘estrutura’ na qual os elementos encontram-se reunidos numa simultaneidade não unificável”109 .
O rizoma se opõe ao modelo de árvore ou raiz, estruturado, hierárquico, centrado. As agências fotográficas conforme definidas no capítulo anterior estão para o modelo de árvore assim como os coletivos contemporâneos estão para o rizomático, conforme observaremos mais detalhadamente adiante.
Os conceitos de rede e de rizoma possuem alguns pontos de contato. Vistos de determinado ângulo, as semelhanças podem parecer em maior proporção que as diferenças. Não podemos, no entanto, encará-los como sinônimos. A rede também é formada por ‘nós’ ligados por linhas – isso parece um rizoma. Mas, na figura mais comumente desenhada das redes, esses pontos seguem uma sequência, possuem níveis, hierarquia – isso não é um rizoma. Para Kastrup a rede é uma encarnação, uma versão empírica e atualizada do rizoma110.
A rede está presente na sociedade há muito tempo. As redes ferroviária, telefônica, de esgotos, elétrica, de estradas, são alguns exemplos que estão presentes na nossa forma de entender o mundo, de construí-lo. “As redes são por demais reais”, nos diz André Parente111, que continua mais adiante: “elas sempre tiveram o poder de produção de subjetividade e do pensamento. Mas era como se as redes fossem dominadas por uma hierarquização social que nos impedia de pensar de forma rizomática” . Para o autor, as redes estão na sociedade, no capital, no
108 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 33.
109 KASTRUP, 2010, p. 84.
110 KASTRUP, 2010, p. 84.
111 PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010, p. 91.
mercado, na arte e na guerra, até mesmo no tempo, no espaço e na subjetividade. Citando Foucault, Deleuze e Guattari, Parente nos remete ao entendimento de que a subjetividade depende cada vez mais de sistemas maquínicos: “as diversas técnicas de comunicação e informação formam um inconsciente maquínico que interage e transforma, hoje, os inconscientes econômicos, psicológicos, linguísticos”112. A abertura das redes, a explosão de apropriações e significações, isso se dá pela imbricação entre tecnologias e comunicação. Não podemos perder de vista que as máquinas trazem em si a subjetividade daqueles que as constroem, como são estimuladoras de novas subjetividades. Os aparatos respondem a necessidades apontadas pela sociedade, mas são redefinidas pelos usos sociais, são reinterpretadas durante o uso. A dinâmica coletiva estabelece usos nem sempre em concordância com o que foi projetado, planejado.
Os coletivos fotográficos contemporâneos surgem num cenário fortemente influenciado pela cultura de convergência, em que as transformações nas relações com os meios de comunicação afetam não apenas essas relações mais diretas, mas nossa maneira de interação social, de organização produtiva e de ligações internas e externas. O rizoma certamente é modelo imprescindível para o entendimento dos coletivos, que se beneficiam do compartilhamento de conhecimento e do sentimento de comunidade.
2.3 Inteligência Coletiva
Um dos primeiros autores a sistematizar um estudo, ainda nos anos 1980, sobre as modificações da sociedade mediada pelas novas tecnologias no interior das comunidades virtuais foi
112 PARENTE, 2010, p. 96.
Howard Rheingold, quando tratou das mentes coletivas populares e dos seus impactos no mundo material. Em meio a termos muitas vezes herdados da ficção científica, percebemos, já na base do que depois viria a ser a Internet, uma valorização e desenvolvimento de atos de cooperação como características principais dessas comunidades.
Num mundo competitivo emergem grupos de indivíduos que cooperam entre si por reconhecerem que há coisas que só podem ganhar através da união. Determinar os bens colectivos de um grupo é um modo de procurar os elementos que transformam elementos isolados numa comunidade113 .
A mente coletiva pode ser entendida como um processo contínuo de resolução de problemas de indivíduos por um grupo. Rheingold estudou profundamente os precursores dos hoje conhecidos grupos de discussão ou comunidades virtuais, naquela época movidos por um “verdadeiro casamento de altruísmo e interesse próprio” (idem, p. 79). Ele conta, por exemplo, como, lá pelos idos de 1986, às voltas com um problema caseiro com sua filha de dois anos, conseguiu uma resposta satisfatória de um tal Dr. Flash Gordon, apelido de um usuário da WELL 114, muito mais rapidamente do que a resposta do pediatra, também acionado pelo mesmo problema. Algumas descrições do funcionamento dessas comunidades, ou mesmo da tecnologia envolvida, dão sono até para os atuais internautas mais iniciantes. Em tempos de aplicativos complexos – para a nossa época, logo ultrapassados – que contemplam som, imagem, simulação, tudo na mobilidade de telefones celulares, tablets ou notebooks, as teleconferências dos
113 RHEINGOLD, Howard. A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 26.
114 Um sistema de teleconferência por computador que permitia a troca de correspondência privada via correio eletrônico e também participação em conversas públicas (chats) com usuários espalhados pelos EUA.
anos 1980 ou 1990 parecem coisa de um passado muito mais distante. Mas o que Rheingold traz de mais importante são os princípios que transformam nossas relações profissionais, sociais e cognitivas. Estão ali os conceitos norteadores do que viria a se estabelecer na cibercultura 115, como as mudanças nos paradigmas comunicacionais, lógica de interconexão, reconfiguração de práticas sociais. Estamos falando, entre outras coisas, da mudança de uma cultura de massa – orientada pelo modelo um-todos – para uma cultura de rede ou de convergência – que opera na lógica da circulação, interdependência, complementariedade, participação.
Para Pierre Lévy “o atual curso dos acontecimentos converge para a constituição de um novo meio de comunicação, de pensamento e de trabalho para as sociedades humanas”116. A inteligência coletiva coloca em sinergia os conhecimentos, imaginações e desejos dos que estão conectados. Tira proveito do quanto cada um dos pontos pode contribuir na construção de um todo. Uma rede de informações e de conhecimento cujas ligações podem redirecionar a novas formas de aprendizado e de conteúdo. Quebra o paradigma do especialista, aquele que detém a completude de um conhecimento, numa lógica de exclusão – que se divide entre os que possuem e os que não possuem o conhecimento – em favorecimento de uma construção de conhecimento de maneira mais ilimitada, interdisciplinar e diversa117 .
Compartilhar a informação passa a fazer mais sentido do que guardá-la para si. É, muitas vezes, no processo que permite
115 O termo ciberespaço vem da ficção científica de William Gibson e é definido por Lévy como “o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” (o autor também usa o termo em substituição a ‘rede’). Porém cabe um alerta: não devemos resumir o ciberespaço à internet. É o conjunto das redes, interligadas por computador, que forma o ciberespaço. Cibercultura é um neologismo e especifica “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17).
116 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 11.
117 JENKINS, 2009, p. 87.
a troca onde está a verdadeira importância, não mais apenas num volume cristalizado. Vejamos o exemplo da Wikipedia, uma enciclopédia online alimentada de maneira colaborativa. Ela se estabelece por um sistema que permite a troca de informações, a complementação, o aprofundamento, mais do que pelo peso dos autores ou consultores, na maioria das vezes anônimos – ou, pelo menos, não tão ilustres. Os que criticam essa plataforma apontam para a falta de um corpo de consultores reconhecidamente especialistas sobre os verbetes, como acontece numa enciclopédia tradicional, como principal fator negativo de tal experiência, pois não dá respaldo aos conteúdos veiculados, “qualquer pessoa” pode editar informações sobre algum tema. Já os defensores atentam para o fato de que os erros podem ser facilmente corrigidos, a qualquer momento, e para todos os usuários, algo que não é possível numa publicação impressa, onde algum erro ainda é consultado décadas depois, caso o livro esteja disponível. A Wikipedia traz em si o antídoto para seu próprio “veneno”. Se a abertura para a participação de todos pode proporcionar imprecisões, essa mesma participação pode rapidamente corrigir tais erros em tempo recorde.
Numa mesma dinâmica, o fotógrafo detentor de todo o conhecimento necessário para a obtenção do produto final deixa de ser tão importante. O aproveitamento de ligações com outras especialidades mostra-se mais enriquecedor do que ser o depositário exclusivo do reconhecimento pelo que faz. Permitir essas articulações pode ser bem mais proveitoso do que anulá-las. O que está em jogo – ou a melhor parte do jogo – é o processo, as alterações que se dão no “meio do caminho”, no intermezzo, no entrelugar. No pensamento e no comportamento das pessoas. Para Jenkins, “é mais do que uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos […] a convergência refere-se a um
processo, não a um ponto final”118. Este autor afirma que a saída para a sobrevivência está em trabalhar junto, coletivamente.
Podemos entender esse ambiente de interconexão, essa lógica de formação de redes, essa abertura para práticas colaborativas como um campo fértil para o aparecimento e fortalecimento dos coletivos fotográficos? Esta é a premissa com a qual estamos trabalhando.
A cibercultura é definida por André Lemos como “uma nova relação entre as tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura contemporânea” e suas leis fundadoras são: liberação do polo emissor – qualquer um pode produzir e distribuir conteúdo –, princípio de conexão em rede – tudo e todos estão interligados – e reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais119 .
A fotografia estabelece uma relação dialógica com esses princípios, reconfigurando suas práticas. Os coletivos respondem diretamente a esses princípios. As possibilidades de associação entre fotógrafos que surgem neste contexto incorporam novas discussões ao fazer fotográfico. Nossa premissa é de que o surgimento dos coletivos fotográficos com mais ênfase na última década está ligada diretamente às reconfigurações de nossa sociedade estimulada pela cultura digital, em rede. Reforçamos que esse cenário atual estimula o estabelecimento, ou a intensificação, de algumas ligações e articulações. A cultura de convergência trabalha sobre a lógica de uma inteligência coletiva, algo que não surgiu recentemente. Lévy destaca que podemos acompanhar o surgimento de uma inteligência coletiva da humanidade global desde o século XVI. Esse movimento se acelera na última década do século XX, com o início da unificação política do planeta, o sucesso
118 JENKINS, 2009, p. 43.
119 LEMOS, André. Ciber-cultura-remix. (Seminário). In: “Cinético Digital’, Centro Itaú Cultural. São Paulo, Itaú Cultural, agosto de 2005.
das abordagens liberais, a fusão da comunidade universitária e da indústria, a explosão do ciberespaço e a virtualização da economia 120 .
O crescimento do ciberespaço, porém, não garante o desenvolvimento de uma inteligência coletiva – pois não se trata de um determinismo: é possível o isolamento, a dominação ou exploração. O ciberespaço é uma espécie de ferramenta que permite a conexão de várias comunidades diferentes em grupos inteligentes, articuladores de um conhecimento coletivo. A rede conectada por computadores – também tablets, celulares, etc. –é um dos muitos circuitos de comunicação que estimulam a coletividade.
Opera-se, a partir desses pressupostos, uma alteração na nossa relação com o saber. A aquisição, a necessidade, o acúmulo do conhecimento se dá em outros eixos. Há, cada vez mais, a necessidade de renovação – ou atualização – de nossas habilidades. Se outrora uma profissão podia ser passada de pai para filho e ser desempenhada por uma mesma família ao longo de gerações, hoje é cada vez mais comum que um indivíduo mude de profissão durante a sua vida produtiva, que dirá outras habilidades mais corriqueiras. Trabalhar não mais significa repetir um conhecimento adquirido durante toda uma carreira. Trabalhar hoje está mais ligado a uma ideia de circulação, criação, renovação, aprendizado e ensino de novos saberes. Por outro lado, “o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas”121, a saber: memória, imaginação, percepção, raciocínios. Bancos de dados, programas de simulação, dispositivos de leitura e captação, inteligência artificial, mecanismos de busca associados a histórico de
120 LÉVY, Pierre. O ciberespaço e a economia da atenção. In: PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010a, p. 188.
121 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 159.
participação, entre muitos outros exemplos, são tecnologias intelectuais presentes no ciberespaço, assim como a escrita, o uso da mitologia, ou os rituais estiveram relacionados a outras épocas. Numa sociedade onde a transmissão de conhecimento se dá pela oralidade, cânticos ou narrações cumprem papéis que incluem a memória e a absorção da informação. Já a cultura escrita trouxe a descontextualização entre emissor e receptor, que, não mais necessariamente, compartilhavam um mesmo espaço ou tempo – e, com isso, teve de incorporar características de uma universalidade, de não mais depender desse contexto antes presente na cultura oral, por exemplo. Não se trata, como já foi dito, de pensar em termos de substituições. O mito e a escrita coexistem também no ciberespaço.
As possibilidades do conhecimento por simulação e a imbricação entre realidade e simulação vão trazer mudanças reestruturadoras no nosso relacionamento com o mundo, com o tempo e com o espaço. Além da reorganização da cadeia de produção, circulação e consumo do saber, de bens culturais, vivenciamos uma revisão de conceitos que passam pela realidade, com grandes consequências para alguns dos usos da fotografia e principalmente para o entendimento desta linguagem. Hoje, a partir de fórmulas e simuladores, é possível antecipar desde resultados financeiros complexos, até mesmo a ação de ventanias sobre estruturas metálicas ou mesmo a visualização da ação do envelhecimento a partir de retratos de pessoas – com o cruzamento de características hereditárias, costumes alimentares e cuidados médicos. As tecnologias intelectuais, das mais antigas às mais recentes, agem na ampliação das potencialidades de articulação de ideias, recuperação de dados armazenados, velocidade de cálculo e processamento. Toda tecnologia intelectual já pressupõe uma inteligência coletiva, pois as construções já partem de um conhecimento previamente acumulado ou repassado. Seja no
conteúdo em si, seja nos processos e mecanismos. “O pretenso sujeito inteligente nada mais é que um dos microatores de uma ecologia cognitiva que o engloba e restringe”122.
2.4 Pós-fotografia
Para Santaella, é possível estabelecermos três paradigmas da imagem, a partir das transformações operadas no modo de produção: o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico123. O uso dos termos “pré” e “pós” nos remete invariavelmente para uma ideia de tempo, de ordem das coisas, de sequência, mas é importante para a nossa pesquisa frisarmos que eles dizem respeito a paradigmas e não a épocas ou eras históricas. Os três paradigmas podem coexistir, podem se sobrepor ou se prolongar uns sobre os outros, mas o surgimento de cada um deles influencia nossa relação com as imagens. Ou seja, não tratam de épocas distintas, porém de formas de entendimento diferentes na nossa relação com as imagens, o que acreditamos fazer diferença no presente estudo.
O pré-fotográfico engloba todas as imagens produzidas artesanalmente e que dependem, por isso, da habilidade manual de um indivíduo. Como exemplos podemos citar as imagens na pedra, desenho, pintura, gravura e escultura. Este paradigma traz como característica o objeto único, resultante de um processo que acontece aos poucos: pincelada após pincelada, no caso da pintura. Existe aqui uma importância da composição material da imagem. “Nessa imagem instauradora, fundem-se num gesto indissociável, o sujeito que a cria, o objeto criado e a fonte de criação”124.
122 LÉVY, 2010, p. 137.
123 SANTAELLA, Lucia. Os três paradigmas da imagem. In: SAMAIN, Etiene (Org.). O fotográfico São Paulo: Editora Hucitec / Editora Senac São Paulo, 2005.
124 SANTAELLA, 2005, p. 299.
No fotográfico, nós podemos perceber a dependência de uma máquina de registro e a respectiva necessidade de objetos reais preexistentes: são imagens produzidas por conexão dinâmica e captação física de fragmentos do mundo visível. A fotografia, o cinema, a TV, o vídeo e a holografia são representantes desse paradigma. Santaella destaca a fotografia como resultado da combinação entre câmara obscura e um suporte sensível à luz, linha de pensamento que se orienta pelo entendimento de uma captura automática, que retira do processo a habilidade humana e reforça uma visão de objetividade. A autora nos fala de um “ato de tomada”, como “instante decisivo e culminante de um disparo, relâmpago instantâneo. Dado este golpe, tudo está feito, fixado para sempre. Enquanto a imagem artesanal é, por sua própria natureza, incompleta, inacabada”125. Veremos mais adiante como François Soulages defende a articulação entre o irreversível e o inacabável como singularidade da fotografia – ou fotograficidade, nos seus termos. Mas existem sim o golpe e a tomada de decisões irreversíveis, um ato que não pode ser retomado – pode até ser tentado novamente, mas como um novo ato.
Já o terceiro paradigma, o pós-fotográfico, trata das imagens sintéticas ou infografias, aquelas inteiramente produzidas por computação, imagens numéricas, binárias, fruto de uma programação, que podem até ser confundidas com uma fotografia, mas que trazem em si esta característica fundamental: são simulações. Nela não há a relação física com o material, como no caso das artesanais do pré-fotográfico, nem com o referente, como no fotográfico. “As imagens infográficas ou sintéticas inauguram uma nova era na produção de imagens com características radicalmente diversas das imagens de projeção ótica, dependentes da luz, que vai da fotografia até o vídeo”126 .
125 SANTAELLA, 2005, p. 300.
126 SANTAELLA, 2005, p. 297.
O modo de produção de cada um desses paradigmas traz consequências para toda a cadeia que envolve armazenamento, agente produtor, natureza da imagem, relação da imagem com o mundo, meios de transmissão e papel do receptor. Ou seja, podemos perceber distinções nesses paradigmas também nas outras esferas da produção, circulação e recepção das imagens. Se o pós-fotográfico se caracteriza por uma “derivação da visão via matriz numérica”, enquanto o fotográfico traz a “autonomia da visão via próteses óticas”127, o seu agente produtor não mais captura o real, mas age sobre ele, é um sujeito manipulador e não mais pulsional.
O meio de produção é determinante nesta concepção, suas características se desdobram em consequências nas outras esferas já citadas. Mas essas modificações não surgem apenas no interior de cada paradigma. Não devemos pensar em termos de substituição, mas bem sabemos das alterações operadas a partir de cada novo modelo. Os modos de produção do paradigma pré-fotográfico foram modificados após o surgimento da fotografia. Assim como a fotografia também mudou com o advento do pós-fotográfico.
Podemos observar com razoável clareza as modificações no papel do produtor, bem como na relação da imagem com o mundo. Mas não apenas nisso. José Afonso da Silva Junior nos dá uma visão de algumas dessas mudanças, mais focadas no campo do fotojornalismo, mas que podem ser ampliadas para a fotografia como um todo. “A capacidade de se adaptar, adquirir gramáticas, trabalhar em cooperação e em rede, interagir com sistemas que não exclusivos da fotografia, parece ser a chave a ser acionada para o enquadramento profissional da fotografia de notícia”128. Não é apenas um ou outro aspecto que se modifica, mas nossa relação com a imagem, a forma como a produzimos e a percebemos.
127 SANTAELLA, 2005 p. 302.
128 SILVA JUNIOR, José Afonso. O fotojornalismo depois da fotografia. Modelos de configuração da cadeia produtiva do fotojornalismo em tempos de convergência digital. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra - Digital Repository, 2011, p.113.
Tabela 1: No quadro abaixo trazemos um resumo das características de cada paradigma. Santaella faz um detalhamento bem mais extenso. Optamos por destacar alguns aspectos que se relacionam mais diretamente com a nossa pesquisa.
Pré-fotográfico Fotográfico Pós-fotográfico
Meios de produção expressão da visão via mão processos artesanais de criação da imagem suporte matérico
Papel do agente imaginação para a figuração gesto idílico olhar do sujeito
Natureza da imagem figuração por imitação cópia de uma aparência imaginarizada
Imagem e mundo aparência metáfora ideal de simetria
Papel do receptor contemplação nostalgia aura
autonomia da visão via próteses óticas processos automáticos de captação da imagem suporte químico ou eletromagnético
percepção e prontidão captura do real olho da câmera e ponto de vista do sujeito
capturar por conexão registro do confronto entre sujeito e mundo
Duplo metonímia ideal de conexão
observação reconhecimento identificação
derivação da visão via matriz numérica processos matemáticos de geração de imagem modelos, programas, simulação, virtualidade
cálculo e modelização agir sobre o real olhar de todos e de ninguém
simular por variações de parâmetro substrato simbólico e experimento
simulação metamorfose ideal de autonomia
interação imersão navegação
A imagem de síntese abre o horizonte das imagens para a simulação. A digitalização, por sua vez, ajuda a destruir algumas “mitologias” do processo fotográfico. “A crença mais ou menos generalizada de que a câmera não mente, de que a fotografia é, antes de qualquer coisa, o resultado imaculado de um registro dos raios de luz refletidos pelo mundo […] está fadado a desaparecer rapidamente”129. Por um lado temos o aumento da possibilidade
129 MACHADO, Arlindo. A fotografia sob o impacto da eletrônica. In: SAMAIN, Etiene (Org.). O fotográfico. São Paulo: Editora Hucitec / Editora Senac São Paulo, 2005, p. 312.
de uma manipulação “mais fina”, pois passa a ser exercida ao nível do pixel, do menor ponto constituinte da imagem. Por outro lado, observamos a trivialidade com que essa ação de manipulação e retoque passou a ser exercida no âmbito amador, caseiro, com a ampliação do acesso a essas tecnologias – mais baratas, mais presentes no dia a dia, mais próximas de todos. Este novo estado de proximidade com a manipulação da imagem quebra completamente a crença na fotografia como reflexo do real, espelho imparcial dos acontecimentos. Além do que, mais importante para a direção que apontamos nosso estudo, amplia e torna familiares as possibilidades de interferência no processo fotográfico. O que nos interessa aqui não é a discussão sobre a “verdade” da fotografia, mas a inserção do sujeito comum nas várias fases e a ampliação da participação no fazer fotográfico.
Quando falamos na explosão das redes informacionais e telemáticas, nas práticas mediadas por computador como estímulo a algumas mudanças culturais, nesta cultura permeada pelas novas tecnologias, estamos tratando deste fenômeno de digitalização, das possibilidades que são trazidas quando passamos a lidar com os vários tipos de informação – sonora, escrita, visual – a partir de um mesmo elemento constituinte, o bit ou a informação numérica.
A fotografia não vive […] uma situação especial nem particular: ela apenas corrobora um movimento maior, que se dá em todas as esferas da cultura, e que poderíamos caracterizar resumidamente como sendo um processo implacável de ‘pixelização’ […] e de informatização de todos os sistemas de expressão, de todos os meios de comunicação do homem contemporâneo130
A fotografia passa a ser outra, quando passamos do paradigma do fotográfico para o do pós-fotográfico. Perde-se certa
130 MACHADO, 2005, p. 311.
ingenuidade, porém ganha-se num aprofundamento de algumas articulações que passam a ser melhor exploradas nas suas potencialidades. A pixelização, como citado por Machado, ou a digitalização – a transposição de toda informação para uma base digital – faz a questão da manipulação fotográfica virar uma ação corriqueira, acessível e acessada por leigos, não mais um trabalho para especialistas, que dominem procedimentos específicos, reféns de estruturas também específicas: laboratórios fotográficos, ampliadores, técnicas de retoque, etc. Isso reconfigura nossa relação com o estatuto de verdade tão defendido durante boa parte da história da fotografia e responsável pela difusão desta linguagem em alguns círculos e usos, que tinham na mecanicidade da técnica seu maior trunfo. Diminui o peso da automaticidade, assim como a concentração do processo na mão de um único autor. Mesmo que ainda se pense no fotógrafo como o acionador do obturador –algumas digitais nem mesmo possuem esse dispositivo – abre-se mais uma brecha para a produção coletiva.
Mas o fenômeno de digitalização – da sociedade e que alcança a fotografia – também redefine conceitos caros aos produtores de imagens, artistas ou não: cópia e original passam a não fazer tanto sentido na fotografia digital. Nesta, tudo é cópia. Mesmo um arquivo “original” é transferido de um lugar a outro através de cópias: do cartão de memória para o computador, do computador para o backup e assim sucessivamente. É possível lidarmos com a até então estranha situação de termos vários exemplares de um original, que é a lógica do backup ou cópias de segurança131 . Na fotografia analógica, a reprodução de uma imagem acarretava no salto entre “gerações” da imagem, com distinções, mesmo que
131 Backups são cópias de seguranças feitas em mídias diferentes, preferencialmente arquivadas em locais distintos (fisicamente), como medida para se evitar a perda de um arquivo importante. Mais do que uma situação teórica, a cópia de segurança é condição primordial de segurança e conservação dos arquivos digitais, fazendo parte de todo e qualquer fluxo do fotógrafo digital. O original único passa a ser exceção, uma possibilidade que está mais para um descuido do que para uma regularidade.
imperceptíveis, entre o original e a cópia, a cópia e a cópia da cópia. No digital, as cópias são sempre idênticas.
A fotografia operou um salto, no campo da imagem, similar ao advento da escrita: a fotografia promoveu a descontextualização entre o observador e a cena. Claro, outros tipos de ilustração já faziam isso, de maneira mais aproximada à metáfora da escrita, mas a fotografia carregava o discurso de uma ligação física com o referente. A digitalização quebra esse entendimento ao transformar a fotografia num mosaico de milhões de pixels que podem ser trabalhados individualmente, rearrumados e passam a ser apenas informações numéricas, sem essa ligação física exposta anteriormente.
Outra característica do meio digital é a não linearidade e interatividade. Se um LP é pensado numa ordem certa das faixas, lado A e lado B, compondo um conjunto com começo-meio-fim, em tempos de MP3 ou CD ouve-se as músicas aleatoriamente, permitindo com mais facilidade que pessoas diferentes tenham experiências diferentes. A experiência de um álbum online de fotos, como o Flickr132, por exemplo, é muito diferente de um álbum físico, com folhas de papel-cartão, fotografias coladas, com papel de seda separando uma página da outra. No formato digital, é possível visualizar seguindo uma ordem que vai das fotos mais recentes para as mais antigas, ou acompanhando sequências definidas por aquele que organizou o álbum, ou através da navegação por palavras-chave. Uma foto pode ser ligada a outra por um comentário de outro usuário, ou pelo simples uso de tags133 em comum. Vemos aqui o princípio do hipertexto, onde um ponto de
132 Plataforma online de gerenciamento e compartilhamento de imagens muito popular entre fotógrafos amadores e profissionais, que permite a criação de galerias, álbuns, inserção de tags, publicação de comentários e outras maneiras de interação. Através do sistema de contatos e de marcações, o usuário pode acompanhar a publicação de material de outro usuário ou mesmo formar recortes pessoais nos trabalhos alheios.
133 Tags, palavras-chave e outros recursos são formas de vincular as imagens a palavras que podem remeter a outras imagens.
uma imensa rede pode ser ligado a outro ponto – rizoma – e essas ligações criam significações na medida em que são formadas. Incluem, igualmente, linhas de fuga.
Fred Ritchin, em seu livro “After photography” 134, aborda as mudanças ocorridas na pós-fotografia. A fotografia cria novas realidades, o mundo nunca é o mesmo depois de fotografado. Ritchin usa diversos casos colhidos na mídia para se aprofundar em alguns dos paradoxos, se não criados, ao menos trazidos à tona ou exacerbados pela digitalização. Citando uma fotografia de capa da revista National Geographic , na qual uma pirâmide foi “levemente” deslocada para permitir um melhor resultado visual, ou mesmo o caso de O. J. Simpson, que aparece mais escuro na revista Time , passando por uma série de outras situações onde aconteceram manipulações da imagem na etapa de pós-produção 135 , afirma que, em determinadas situações, parece haver uma diminuição da importância tanto do fotógrafo profissional quanto até mesmo do assunto, por conta dos processos atuais de manipulação. Muitas vezes são modificações banais em relação às escolhas feitas pelo fotógrafo e que compõem o repertório e a construção do discurso fotográfico: enquadramento, foco, ângulo, etc. Estas questões são objeto de resistência nas gerações acostumadas ao entendimento de uma fotografia produzida pela sensibilização de sais de prata através da ação da luz. Talvez para as novas gerações, criadas completamente mergulhadas nos princípios da digitalização, essa discussão, mais do que ultrapassada, será incompreensível. Voltamos a afirmar: a fotografia não perdeu o estatuto de objetividade com o advento da
134 RITCHIN, Fred. After photography. New York: W. W. Norton, 2010.
135 O conceito de pós-produção é entendido como a etapa de tratamento da imagem. Está perdendo o sentido uma vez que esta etapa é parte integrante do processo de produção de uma imagem digital, mas continua sendo usado pelo meio profissional, englobando todo o trabalho de revelação digital, tratamento e até manipulação (fusão, acréscimo ou retirada de elementos da imagem, etc.).
digitalização. Bayard, com seu autorretrato “afogado” – vide capítulo 1 – já jogava às favas qualquer ligação com o real. Para Ritchin, o ceticismo em relação à confiança na fotografia como instrumento da verdade traz vantagens e desvantagens.
Perde espaço em algumas aplicações, mas permite que a linguagem amadureça, expandindo suas possibilidades de discurso, deixando de lado uma câmera que tem apenas o poder de provar, colocando em seu lugar a possibilidade de criar. Modifica-se a relação de poder e de geração de conhecimento –não estamos aqui afirmando que a importância do fotógrafo no processo de criação fotográfica começa a ser observada com o advento da digitalização, na verdade esta valorização remonta a muitas décadas antes, como bem sabemos. Um paradoxo, entre tantos outros, é que de um lado a digitalização pode dar mais uma contribuição na ruptura com a fotografia objetiva, mas, por outro lado, lança discussões sobre o conceito de autoria, ao intensificar um processo composto por uma rede de funções, conhecimentos, habilidades e pessoas diferentes, onde a apropriação e reorganização são parte integrante. Há um deslocamento do ponto de gravidade, estimulado, também, pelas possibilidades abertas no momento em que agora trabalhamos com imagens baseadas em pixels.
Estamos ainda aprendendo a lidar com tais mudanças, ao mesmo tempo em que novas articulações se tornam possíveis. Citando o caso Brian Walski136, Ritchin afirma que não houve uma alteração na informação, não houve uma mudança no relato do acontecimento, ao contrário de outras situações, conhecidas
136 Em 2003, o fotógrafo Brian Walski foi demitido do Los Angeles Times, pois um leitor percebeu que a fotografia de sua autoria, publicada na capa do jornal, era resultado da fusão de duas imagens. Guerra do Iraque, um campo onde um soldado britânico manda que um homem com criança no colo se mantenha abaixado. A cena é a mesma, mas o fotógrafo cola parte da foto em que o soldado está “mais expressivo”, com a foto onde o homem está “melhor”, em busca de uma imagem onde os dois personagens principais estejam melhor representados.
como photo ops (opportunities)137, para concluir que há uma preferência generalizada na mídia (jornalística) em publicar fotos “verdadeiras” de eventos artificiais, não aceitando a relação oposta, que seriam fotografias construídas de fatos reais138. Situações forjadas unicamente com o objetivo de serem fotografadas são permitidas, aceitas. Para o autor, eis aí mais um paradoxo. Tais manipulações, tanto as que atuam no fato em si, quanto as acontecidas no momento da revelação digital, estão ligadas a uma busca pela “imagem perfeita”, possivelmente influenciada por outros campos, como a televisão, o cinema ou a publicidade. Convive-se, cada vez mais, com imagens bem produzidas, esteticamente bem trabalhadas, com boas soluções de luz. Elas estão nos anúncios das revistas, nos outdoors, nos livros, na internet. É possível, por exemplo, perceber que até mesmo utilizações mais “caseiras”, como os perfis nas redes sociais ou apresentações escolares, já acompanham a preocupação por um resultado visual mais acurado. Aparelhos celulares trazem, além de suas câmeras acopladas, aplicativos simplificados para tratamento das imagens, a manipulação após a captação se transformou em uma ação quase que automática ou imprescindível.
Mas há uma outra manipulação, presente também em todo ato fotográfico, mas que sequer é enxergada com o peso que a palavra “manipulação” carrega. Quem, ao saber que está sendo fotografado numa festa de aniversário, não passa a mão no cabelo, ou corrige a postura num ato quase que automático? Como disse Barthes: “ora, a partir do momento que me sinto
137 As photo ops são as situações onde uma “cena” é combinada para dar oportunidade à produção de imagens para imprensa. Por exemplo, o aperto de mão de dois líderes mundiais reunidos na Casa Branca: a assessoria combina um momento para produção de imagens que irão ilustrar as matérias sobre o encontro, que acontece a portas fechadas. Outro exemplo são as simulações de ações militares nas guerras “espetacularizadas”, como as recentes do Golfo ou do Afeganistão. Esses episódios são exaustivamente cobertos pela mídia, embora envolvam um grau de manipulação da notícia maior do que no caso citado de Brian Walski.
138 RITCHIN, 2010, p. 35.
olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a ‘posar’, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem”139. Encenamos um personagem para o álbum de família, organizamos situações para registro e difusão pela imprensa, compomos nossas fotos incluindo elementos e deixando outros de fora, mas ainda estranhamos quando alguns tipos de manipulação são feitas depois do acionamento do obturador, depois do momento do clique.
A mídia surge para explorar um mundo, que muda simplesmente pelo fato de ser observado por ela. Novas invenções acontecem em resposta a novas necessidades da sociedade, mas, além de alterar esta mesma sociedade, atua diretamente na criação de novas demandas. As câmeras fotográficas digitais profissionais passaram a produzir vídeos para atender a uma demanda dos fotógrafos, ou os fotógrafos começaram a produzir vídeos em resposta a uma nova possibilidade apresentada pela indústria? Nenhuma das duas opções ou as duas opções juntas: esta seria a resposta certa, mesmo que um tanto paradoxal.
Ritchin faz referência ao curador John Szarkowski que, em 1978, afirmou existirem duas categorias nas quais a maior parte das fotografias poderiam ser incluídas: a de espelho (da personalidade dos fotógrafos) ou a de janela (para o mundo). Uma dicotomia entre a expressão e a exploração140. Além da metáfora do espelho e da janela, o ambiente digital faz emergir uma outra, a do mosaico141, mais relacionada à lógica de hipertexto. Não mais um objeto tangível, mas um ladrilho efêmero feito de pixels, onde cada um desses pequenos elementos pode ser reconfigurado, permitindo aberturas a outras articulações.
139 BARTHES, 1984, p. 22.
140 RITCHIN, 2010, p. 69.
141 RITCHIN, 2010, p. 70.
O pesquisador e fotógrafo catalão Juan Fontcuberta trata desses assuntos à sua maneira, sempre permeada por anedotas ou acontecimentos pessoais. Ele, que defende que a fotografia digital deveria ser chamada de outra coisa, pois traz muito mais diferenças em relação à fotografia chamada analógica do que similaridades, destaca que a fotografia nasceu como consequência de uma determinada cultura visual, a qual ela mesma contribuiu para fortalecer e impor”142, remetendo às influências mútuas entre sociedade, aparatos técnicos e linguagem, já tratados nesta obra. O autor destaca alguns efeitos da junção entre a fotografia e o computador, entre eles a interatividade ou criação compartilhada “rápida e fácil entre artistas, obras e público. O artista deixa de oferecer uma obra petrificada, fóssil, para, em troca, facilitar um diálogo aberto com o espectador”143, forçando uma revisão de um “autoritário” conceito de autoria. Esta revisão não está atrelada apenas a uma divisão de tarefas e à inclusão de outros atores ao processo de produção, o que para muitos significa um enfraquecimento da função-autor. Fontcuberta, que tem um interesse forte em discutir as relações ambíguas entre fotografia e verdade, fala também da transferência da credibilidade, que antes estava depositada no testemunho fiel de uma objetividade mecânica do aparato, agora nas mãos do fotógrafo autor. A fotografia como uma representação visual atrelada ao ponto de vista do sujeito que opera a câmera, ou que é responsável pelo resultado final.
Se Ritchin aborda a questão da manipulação destacando o paradoxo da fotografia real de um fato irreal, Fontcuberta trata de três instâncias onde acontecem as manipulações: nos âmbitos da mensagem, do objeto e do contexto. A fotomontagem, que se insere na instância da manipulação da mensagem, é um recurso
142 Tradução livre para “la fotografía nació como consecuencia de una determinada cultura visual a la que ella misma contribuyó a fortalecer e imponer” (FONTCUBERTA, Joan. El beso de Judas: fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p.146).
143 FONTCUBERTA, 1997, p.151.
utilizado desde muito tempo, para fins políticos ou artísticos, entre outros, e nem sempre é uma ferramenta a serviço da distorção. É “condição sine qua non da criação”144. Fez parte da base de alguns movimentos, como os dadaístas. Segundo o autor, a tecnologia digital, neste sentido, não inventou nada de novo, porém tornou muito mais fácil e mais rápido. As manipulações do objeto e do contexto parecem não despertar maiores interesses ou celeumas. Se o autor afirma que “toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira”145, reforçando que não há exceções – toda a fotografia é pura invenção –, a chave está em amadurecer essa relação entre imagem fotográfica e verdade. O caminho está em perceber as mudanças que atingem não apenas o estatuto da imagem, como seu processo de criação e sua articulação com outros meios e mensagens. “O mundo torna-se um grande teatro, já não há divórcio entre realidade e representação. As conferências de imprensa, as convenções políticas, os acontecimentos esportivos, as grandes comemorações, até algumas guerras, foram convertidas em elaboradíssimas dramaturgias”146.
As facilidades trazidas pela manipulação digital, mais acessível, trouxeram mudanças na esfera da recepção. Se a manipulação sempre existiu, a diferença agora é a familiarização do público com essas técnicas, tendo como consequência uma “nova consciência crítica por parte dos espectadores”147. Numa outra linha de ataque, a tecnologia digital desmaterializa a fotografia e abre perspectivas para a difusão e interação coletiva.
144 FONTCUBERTA, 1997, p. 126.
145 FONTCUBERTA, 1997, p. 15.
146 FONTCUBERTA, 1997, p. 178.
147 FONTCUBERTA, 2010, p. 64.
2.5 Autoria
Esse cenário de cultura digital também tem tensionado dois conceitos que se aproximam muito, a depender do ângulo de visão, mas que possuem distinções importantes que não podem ser deixadas de lado. Criação e autoria possuem um ponto de encontro que é a obra, o objeto de criação. Mas um processo criativo compartilhado não significa, necessariamente, uma autoria coletiva. Os coletivos fotográficos contemporâneos, através de sua atuação, estimulam a discussão no campo da fotografia tanto sobre a ideia de criação quanto de autoria. Uma fotografia que foi “clicada” por um só fotógrafo pode ser entendida como uma obra coletiva? E uma outra fotografia que contou com diversos profissionais na sua cadeia de produção, como designers, produtores de figurino, iluminador, laboratoristas ou tratadores de imagens, pode ser assinada individualmente por um fotógrafo? A autoria se nutre da criação, afinal uma peça-chave da autoria é a obra e ela não é apenas resultante de um processo criativo, mas ela também se compõe de outras camadas, principalmente uma forte ligação institucional. A autoria em si também é uma criação.
É principalmente no senso comum, no uso mais cotidiano onde autoria e criação se confundem. Em parte isso pode ser amparado pela relação entre aquilo que é feito e aquele que faz, ou seja, entre a obra e o criador/autor – aqui colocados propositadamente numa situação de substituição/semelhança. Mas nós não podemos pensar a autoria como a simples condição de produzir algo, pensando o autor somente como aquele que está neste momento fundador de alguma coisa. O autor estará, certamente, no processo de criação, mas é necessário que observemos determinadas relações para que reconheçamos sua autoria.
Michel Foucault fez uma conferência em 1969148 com o título “O que é um autor?”, onde traçou importantes linhas de pensamento sobre a temática. Para ele, um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso (que pode ser sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um pronome, etc.); ele exerce um certo papel em relação ao discurso: assegura uma função classificatória; tal nome permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros. Por outro lado, ele relaciona os textos entre si149.
Há uma função de distinção exercida entre fotografias comuns e fotografias autorais. A autoria está fortemente relacionada com a ideia de separação ou delimitação. Talvez numa visão mais romântica essa diferenciação se mostre como aquele sujeito dotado de um dom especial, capaz de compor poesias resultantes de uma inspiração que surge aparentemente do nada. Mas Foucault defende que há um outro fator: “os textos, os livros, os discursos começaram a ter realmente autores (diferentes dos personagens míticos, diferentes das grandes figuras sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o autor podia ser punido, ou seja, na medida em que os discursos podiam ser transgressores” 150
Além disso, o filósofo observa que a autoria não se trata de uma operação simples de atribuição de uma obra a um indivíduo, mas que é fruto de uma operação complexa. Obra e autor estão relacionados, de modo que é imprescindível incluir um para se pensar o outro, na verdade um depende do outro para sua própria existência, surgem juntos: a obra é aquilo que o autor faz e o autor,
148 Apresentada na Société Française de Philosophie, posteriormente reapresentada, com poucas alterações, na Universidade de Búfalo, em Nova Iorque, em 1970.
149 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Coleção Ditos & Escritos III. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 273.
150 FOUCAULT, 2009, p. 274.
só atinge essa condição valendo-se de sua obra. Um emaranhado que ele condensou dessa forma:
A função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, determina, articula o universo dos discursos; ela não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida pela atribuição espontânea de um discurso a seu produtor, mas por uma série de operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar151.
Não basta, portanto, nominar o indivíduo que esteve presente no ato criador de uma fotografia para reconhecermos seu status de autor. É na relação com sua obra que isso acontece: uma coerência conceitual, uma unidade estilística ou uma linha de costura entre o volume de imagens produzido. Somente algumas das fotografias produzidas por um autor serão incluídas no seu acervo autoral, as demais serão consideradas desvios, erros, farão parte do aprendizado e pesquisa ou estarão na ala das fotografias familiares, pessoais, etc. Mas tem um outro aspecto muito interessante neste trecho que foi destacado: a ideia de que pode remeter simultaneamente a vários egos, a classes diferentes de sujeitos.
Entendemos que a autoria seja resultado de uma construção histórica, uma espécie de marca que engloba toda essa complexidade citada por Foucault. Exige negociações e legitimações. Teve grande impulso na necessidade legal de determinar a origem de textos, principalmente com o aumento da circulação proporcionado pela imprensa, uma vez que o escrito estabelece uma quebra de vínculo entre quem fala e quem ouve – ou emissor e
151 FOUCAULT, 2009, p. 279.
receptor. Na fotografia, que possui desde o início uma relação com a indústria – seja nos ideais, seja na mecanicidade –, o reconhecimento da autoria também se dá por questões legais-comerciais. John Tagg152 nos mostra como primeiro a fotografia é equiparada a um meio de natureza mecânica que, por isso, não pode ter o seu resultado entendido como fruto de uma propriedade intelectual. Ou seja, a fotografia era excluída do “círculo encantado” que unia a individualidade, a criatividade e a propriedade. O fotógrafo era visto como um operário e a fotografia como uma criação de uma máquina, desprovida de direitos como sujeito ante a lei. A conversão de uma máquina sem alma em meio para expressão criativa de um sujeito acontece através da pressão econômica da indústria fotográfica: as relações de produção exigiam que o servil fotógrafo fosse considerado um artista e criador.
A autoria na fotografia é fruto de tais negociações e construções, demandando o reconhecimento do papel do sujeito no processo. Mas como fica esse reconhecimento se a cadeia produtiva envolve diversos indivíduos e funções? Na fotografia a assinatura muitas vezes – naturalmente – é a daquele que “operou a máquina”, que colocou seu olho no visor, que disparou o obturador, que “apertou o botão”. Mas como pensar dessa maneira num mundo com tantas conexões e num processo que abrange tantas etapas e ligações externas? É possível resumir tudo a apenas um ator?
2.6
Criação em rede
Cecilia Almeida Salles, em seu livro “Redes de criação”, defende que nunca estamos sozinhos quando criamos. O processo de criação passa por uma lógica de rede, que é formada por refe-
152 TAGG, 2005, p. 145.
rências, pesquisa e estudo, mas que também tem seus “nós” na forma de conversas com amigos, críticas, sonhos, acaso e erros. A interatividade, para a autora, é uma propriedade indispensável da rede para se falar de criação, em contraposição à ideia de “gênio”:
se o pensamento é relacional, há sempre signos prévios e futuros. Esta abordagem do movimento criador, como uma complexa rede de inferências, reforça a contraposição à visão da criação como uma inexplicável revelação sem história, ou seja, uma descoberta sem passado, só com um futuro glorioso que a obra materializa153
As inferências são os nós de uma rede infinita e as ligações entre si se fazem muitas vezes de maneira inconsciente. Como afirma Rubens Fernandes Jr,
ao mergulharmos no universo do processo criativo, nos deparamos com uma rede de inter-relações e de conexões, da qual não é possível detectar com muita precisão o exato momento que detonou a escolha do detalhe que vemos exuberante na imagem finalizada. Encontramo-nos quase sempre no meio do caminho dessa complexa trama inventiva da qual nunca acessamos o verdadeiro percurso da criação154.
É muito difícil, ou mesmo impossível, determinar onde está o início de um processo criativo. Muitas vezes um artista pode estabelecer um ponto, um fato, uma referência como ponto de partida, mas não se dará conta de que outros fatores, anteriores ou mais importantes, não foram relacionados. Uma desilusão amorosa pode desencadear um poema. Ou uma preocupação social ser o combustível para uma fotografia documental. Ou mesmo os efeitos de determinada droga, para um desenho.
153 SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. 2. ed. São Paulo: Horizonte, 2008, p. 27.
154 FERNANDES JR, Rubens. O processo de criação como memória. In: Icônica (site), 2011.
Nesses exemplos clichês estamos falando de determinados acontecimentos que estimularam o desenvolvimento de um trabalho, mas muitos outros ingredientes estarão presentes no resultado final e não estamos falando somente de experiências, sensações ou sentimentos pelos quais cada pessoa passa individualmente, existe uma série de outras pessoas também envolvidas nessa cadeia.
Um cineasta faz referências – ou negações –, mesmo que inconscientemente, a muitos outros filmes assistidos durante sua vida. Não se trata somente de buscar soluções que lhe agradaram, mas também evitar as que desagradaram. Se o ponto de partida age na obra, o ponto de chegada também é fruto de escolhas e interfere diretamente no resultado. Existem muitos caminhos a serem seguidos e as revisões podem ser intermináveis: mudanças de percurso, exclusão de trechos, inclusão de outros: “publicamos para não passar a vida corrigindo”155. O ponto de partida pode ser uma encomenda do mercado, algo muito distante das motivações artísticas no imaginário coletivo, mas muito presente na lista de estímulos da história da arte. Independentemente se estamos falando dos afrescos de uma catedral europeia, ou da galeria contemporânea de Nova Iorque. O ponto de chegada pode ser o prazo final de um edital de participação em um grande evento ou espaço expositivo de prestígio. Não fiquemos somente nas desilusões amorosas e instigações sociopolíticas. O início como algo imponderável e, por isso, relativizado. O fim inserido numa possibilidade do inacabável. Entre um e outro se coloca um complexo emaranhado de referências, estímulos, limitações, erros e pessoas, muitas pessoas. “A obra não é fruto de uma grande ideia localizada em momentos iniciais do processo, mas está espalhada pelo percurso”156.
155 CARLYLE, apud SALLES, 2008, p. 21.
156 SALLES, 2008, p. 36.
O convívio social e familiar ou a pesquisa formal – conceitual, teórica – são importantes fontes de transformação da obra. Apontamentos para um novo conto podem surgir de uma conversa informal num bar. A caracterização de um personagem é inspirada numa professora da infância. As soluções encontradas estão diretamente relacionadas com as experiências vividas. Quando lemos um livro, estamos lendo determinado autor, mas também muitos dos autores que ele leu, refletidos ali de alguma forma. Um acúmulo, mas também um desdobramento. Mas isso não quer dizer que ele seja sempre a reconstrução de algo anterior, como uma leitura de segunda mão. O autor está num ponto de convergência de todas essas inferências, de modo que redes distintas são formadas por autores distintos.
Cecilia Almeida Salles demonstra como o ritmo de trabalho, as esperas e a continuidade são fatores importantes no processo. O artista, por exemplo, pode precisar esperar pela obra, se o tempo de secagem da tinta que utiliza é maior. Isso interfere não só no prazo de entrega, mas a forma de concepção da obra pode sofrer interferências se não posso trabalhar as cores de um quadro no ritmo das ideias e das pinceladas. Essas esperas podem levar naturalmente à simultaneidade, quando um artista desenvolve várias obras ao mesmo tempo e umas podem interferir nas outras, nem sempre positivamente. Problemas pessoais também podem gerar esperas, suspensões, antecipações. O acaso, o erro e o imprevisto podem modificar completamente o andamento de um projeto, proporcionando um resultado distante do planejado: “aceitar a intervenção do imprevisto implica compreender que o artista poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele que fez”157 . Para um fotógrafo, cujo trabalho depende de captar a imagem de uma cena que se coloca em frente à sua câmera,
157 SALLES, p. 22.
as condições externas são extremamente importantes para o resultado final. Independentemente de ele atuar ou não com situações espontâneas ou de buscar o controle de um estúdio fotográfico, de fotografar fenômenos naturais ou modelos contratados, lida com essas variáveis. Depende da cena a ser fotografada, das condições de iluminação, da atuação – encomendada ou não – das pessoas, da disposição espacial dos elementos etc. Uns fotógrafos desenvolverão aptidões para atingir tais resultados a partir de cenas com maior ou menor grau de suas interferências, mas sempre terão essas especificidades da cena como possíveis variantes para seu trabalho.
Perceber a atuação de todas essas variáveis, a existência de um emaranhado de fatores que interferem no resultado final, que pode ser muito diferente de acordo com as decisões tomadas ao longo do processo, coloca em perspectiva a ideia de uma criação – e também autoria – que passa pela relação com o outro. São aberturas – conscientes ou não – que propiciam um pensamento relacional, uma criação que não seria possível sem a participação do outro. O lugar da criação não é a imaginação de um só indivíduo, mas locais múltiplos de criatividade onde todos interagem. Mesmo que um fotógrafo trabalhe só, confinado em seu estúdio, por exemplo, e seja responsável por todas as etapas envolvidas na produção de uma imagem – planejamento, iluminação, captação, tratamento do arquivo, pós-produção, finalização (ou revelação, ampliação, para processos analógicos) – mesmo que ele fique à frente de todas as tarefas que culminam na fotografia final, mesmo assim observaremos uma participação de outros atores, em geral reconhecidos como referências ou influências.
A lógica de rede não é fruto da cultura digital, mas foi fortemente estimulada por ela, gerando uma profunda interconexão entre pessoas, processos, sistemas e objetos. Observar a criação dentro desta lógica não significa atestar o fim da autoria, mas
ver que, assim como acontece com outros campos e conceitos, se promove um deslocamento também aqui. Se o conceito em si não é simples, “no momento em que há um cruzamento de indivíduos com um projeto em comum – a produção de uma obra – há um maior grau de complexidade”158. A discussão sobre criação e autoria compartilhadas pode não ser simples, mas é estimulante para pensarmos horizontes ainda mais amplos para a fotografia. A percepção de um processo composto por diversas etapas e funções abre para a participação mais ativa e fértil de outros atores, extrapola a concepção de uma fotografia concentrada num instante – aquele do disparo – para uma construção que se inicia muito antes e termina muito depois, se é que termina.
2.7 O irreversível e o inacabável
Qual a especificidade da fotografia? O que a torna específica? Para François Soulages, que trabalha o conceito de “fotograficidade” – ou o que é fotográfico na fotografia –, a resposta para esta questão está na “surpreendente articulação do irreversível e do inacabável – irreversível obtenção do negativo e inacabável trabalho com o negativo”159. Mas o autor não alcança tal articulação sem antes investigar o que ele chama de “três realidades” da fotografia: as condições de possibilidade de uma foto160, suas condições de produção e suas condições de recepção.
Uma vez que a recepção depende dos sujeitos receptores, de sua história pessoal, de sua bagagem e interpretação, não poderíamos obter “afirmações universalizáveis, válidas para
158 SALLES, 2008, p. 153.
159 SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. Tradução de Iraci D. Poleti e Regina Salgado Campos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010, p. 123.
160 Soulages se refere a “foto” quando se trata da materialidade, da imagem material resultante de um processo fotográfico. Usa “fotografia” quando quer se referir ao procedimento, à técnica ou à arte fotográfica.
qualquer recepção de qualquer foto”161. Para Soulages, então, não é no estudo das condições de recepção onde está a chave para o entendimento da fotograficidade. Sobre as condições de possibilidade de uma foto, é preciso que nos debrucemos sobre o objeto a ser fotografado, sobre o sujeito que fotografa e sobre o material fotográfico. O autor trata da impossibilidade do objeto-essência, do objeto como oportunidade de encenação, da busca pelo objeto-problema e da ilusão do objeto realidade. Sobre o sujeito que fotografa, é singular demais para poder ser generalizável –como no caso da recepção. Soulages defende que também não é por meio das condições de possibilidade que se pode especificar a fotografia. A fotograficidade está, pois, nas condições de produção de uma foto. Está no processo e nas articulações que este traz em sua essência. “A fotograficidade designa a propriedade abstrata que faz a singularidade do fato fotográfico”162, que permite pensarmos não apenas na fotografia real, mas também na fotografia possível, a ser realizada. O cerne da questão está não no objeto a ser fotografado, nem no receptor da foto, nem no sujeito que fotografa, mas na relação entre a matriz inicial e o produto que dela resulta, uma relação que contém infinitas possibilidades. Soulages afirma que podemos analisar a fotografia por uma abordagem humanista – o vivido pelo sujeito fotógrafo – ou por meio do processo fotográfico. Nos dois casos, há um corte, uma divisão em duas etapas: o tempo do homem com a câmera e o tempo do homem no laboratório; ou, do ponto de vista materialista, da primeira exposição até a secagem do negativo (primeira etapa) e da exposição à secagem da cópia. Embora o autor se refira ao processo analógico, com todos os banhos (revelador, fixador, lavagens, etc.), o esquema apresentado é perfeitamente transportável para o processo digital,
161 SOULAGES, 2010, p. 125.
162 SOULAGES, 2010, p. 129.
em que teremos a produção do arquivo e o trabalho com o arquivo. Essa divisão é crucial para tratarmos da irreversível obtenção do negativo e do inacabável trabalho com o negativo. A fotograficidade está na articulação dessas duas características. “A fotografia é, pois, a articulação entre o que se perde e o que permanece”163 .
A primeira etapa é caracterizada pela impossibilidade de reversão. Podemos fazer novas tomadas, repetir o tema, refazer uma foto, mas nunca voltar ao filme virgem. “Uma vez realizado, o ato fotográfico é irreversível, não se pode mais agir como se ele não existisse”164. Aqui estamos tratando da obtenção do negativo ou do arquivo matriz, levamos em conta o processo analógico ou digital, respectivamente. Já o trabalho com o negativo, a segunda etapa, é marcada pela possibilidade inacabável de novas abordagens. É possível retrabalhar um negativo infinitamente. Não estamos aqui nos atendo a questões materiais de deterioração, afinal nossa busca é por traços conceituais. Também não se trata aqui do potencial de reprodutibilidade, tão caro à fotografia. Não estamos falando de produzir cópias fiéis, mas sim de podermos fazer fotos totalmente diferentes a partir de um mesmo negativo e esse potencial é inacabável. A imprensa, o molde, o carimbo ou a gravura, todos esses processos já permitem uma reprodução, mas aqui estamos falando da obtenção de resultados diferentes a partir de uma mesma matriz. Seja pela escolha da matriz a ser trabalhada (um entre tantos negativos ou arquivos “clicados”), seja pelo reenquadramento ou corte da imagem, seja pelos diferentes procedimentos e materiais utilizados no processo, abrimos para um leque de possíveis resultados.
É possível percebermos pontos de contato entre as articulações trazidas por Cecília Almeida Salles e a ideia de fotograficidade de Soulages, que afirma:
163 SOULAGES, 2010, p. 132.
164 SOULAGES, 2010, p. 131.
no trabalho do inacabável da fotografia, podem intervir não só o fotógrafo criador do negativo, mas qualquer pessoa, ou um outro fotógrafo, um curador de exposição, um criador de livro, um diretor de teatro, em resumo, qualquer mediador, ou melhor, qualquer receptor que, por sua vez, é o intérprete e o recriador da foto165
Os conceitos de perda e permanência, as condições de retrabalho por outras pessoas e não apenas o fotógrafo responsável pela captação inicial, são muito importantes para algumas das relações características dos coletivos fotográficos. Esses atuam não somente com a consciência dessas referências, mas numa instrumentalização dessas possibilidades, assumindo e atualizando tais questões. O inacabável permite novos desdobramentos, novas ligações, linhas de fuga, retrabalhadas por outros atores do processo: outros fotógrafos, tratadores de imagem, curadores, etc. Aqui são elencados também os fatores como as referências externas, as críticas, os acasos e erros, como potencialidades de desvios e de novos caminhos a serem trilhados. A distância entre uma foto pensada, planejada e o resultado final; o entendimento de que muitas outras obras poderiam ser alcançadas a depender das ligações geradas no interior do processo criativo. Pontos que se ligam a outros e cujo processo se constrói nestas ligações. Um termo muito utilizado na história da fotografia e nos manuais técnicos é o de “imagem latente”. Refere-se à imagem formada pela exposição dos sais de prata, mas que ainda não foi revelada. Um registro que está lá, mas ainda não pode ser visualizado e corre o risco de se perder – um filme exposto pode ser velado (queimado pela luz) ou simplesmente ter uma nova exposição, alterando a sensibilização anterior. Para Soulages, mais do que uma imagem latente, um filme ou um arquivo matriz
165 SOULAGES, 2010, p. 146.
traz em si uma infinidade de imagens possíveis, pelas variáveis já abordadas aqui.
O importante é perceber que nunca estamos isolados na criação, nem lidamos com imagens isoladas. É sempre na relação que se encontram as principais questões. É preciso relacionar a fotografia ao longo de todo seu processo com sujeitos, com objetos, com contextos, com histórias, com os “nós” que marcam essa coletividade na sua criação. Todas as etapas de escolha ao longo dessa construção, seja antes, durante ou depois da “finalização” de uma imagem fotográfica, “abrem-nos para infinitos de infinitos”166 .
2.8 Novos arranjos
Procuramos, nesse capítulo, iluminar o cenário, naqueles aspectos que consideramos serem mais importantes para tratar do objeto de nossa pesquisa, o surgimento dos coletivos fotográficos contemporâneos. A fotografia vem passando por diversas transformações. Mudanças que acontecem no campo do fazer, mas também em suas faculdades ontológicas. Novos arranjos são necessários nas mais variadas esferas, da produção à circulação, do financiamento à gestão.
O fotojornalismo, por exemplo, está saindo das redações. Este gênero, embora sejam vários os exemplos práticos de experiências ‘independentes’ – como agências e revistas com equipes terceirizadas, autônomas –, é entendido e estudado no seu vínculo com o veículo. Agora novas formas de organização vêm se firmando com mais força. As transformações ocorridas com a dissolução do polo emissor tem alterado a cadeia de produção dos produtos jornalísticos e documentais. Novas editoras e publi-
166 SOULAGES, 2010, p. 151.
cações, cujos produtos seguem muitas vezes uma organização semelhante às grandes revistas, estão surgindo a todo o tempo. Leitores e colaboradores se confundem. O mesmo pode ser o observado nas esferas de financiamento. Novos arranjos tiram de cena o proprietário capitalista ou o investidor majoritário. Produtos jornalísticos que se sustentam financeiramente de clientes que apostam na ideia antes de sua execução.
O crowdfunding167 é um exemplo. Na prática é um nome novo para a ideia de cotização ou a conhecida “vaquinha” em que um grupo de pessoas arca com os custos de algum desejo ou objetivo que compartilha. Crowdfunding – financiamento por multidão, numa tradução direta – é uma forma de viabilidade financeira que ganhou força principalmente com a explosão das redes sociais e mecanismos baseados na internet. Qualquer pessoa pode apresentar seus projetos e arrecadar doações coletivas, em geral estimuladas por algum tipo de recompensa, que pode ser simplesmente o resultado material do projeto. Shows de bandas internacionais, por exemplo, podem ser viabilizados por um grupo que resolva comprar antecipadamente lotes de ingressos. Isso tem permitido a concretização de diversas ações, independentemente do apoio de grandes financiadores ou de órgãos oficiais. É um formato que se nutre fortemente da lógica de rede – a prática em si de cotizar valores é muito antiga, mas ganha novas maneiras de atuar e se apresentam como uma opção real para a execução de muitos projetos. Um exemplo desse tipo de plataforma de financiamento é o brasileiro Catarse – catarse.me – que reúne projetos de diversas áreas como design, fotografia, literatura e música. Chegou a existir um outro, voltado especificamente para jornalismo visual, o Emphas.is, mas encerrou as atividades em 2012. Podemos perceber alguns pontos de contato com os coletivos
167 Para mais detalhes, acessar: http://exame.abril.com.br/pme/noticias/fenomeno-docrowdfunding-ganha-forca-no-brasil.
fotográficos, que também agregam características de reestruturação organizacional, num diálogo com os princípios de uma cultura de convergência.
A tecnologia talvez não seja o elemento que fundamenta a existência dos coletivos, mas certamente está presente nas trocas simbólicas, afetivas e mesmo organizacionais da base desses grupos. A digitalização – e sua inserção na fotografia – é muito mais do que uma mudança apenas de ordem técnica ou de procedimento. Traz consequências e rearranjos no que se refere à posição do sujeito no fazer fotográfico, no estatuto de autoria, nas construções de significados e no conceito de obra. A digitalização age na sociedade como um todo e intensifica as relações em rede. O conceito de rizoma, um ponto sendo ligado a outro ponto, as linhas de fuga, tudo isso permeia a ideia de hipertexto e, por prolongamento ou apropriação, à ideia de uma hiperfotografia. Realidade e representação passam a ser encaradas mais na forma como se relacionam do que como campos distintos. O conceito de rede e as relações rizomáticas são anteriores ao advento da internet e das chamadas novas tecnologias, mas não podemos deixar de perceber o quanto foram energizadas e intensificadas nesses novos meios mais interativos e menos lineares.
O cenário que envolve a cultura de convergência, que estimula a inteligência coletiva, que potencializa as trocas, que reconfigura as relações de poder e de conhecimento, que facilita e torna familiares reordenações e apropriações, esse cenário é o pano de fundo para o que caracteriza o coletivo fotográfico contemporâneo, no que se diferencia de outras iniciativas precedentes de agrupamentos de fotógrafos. Esse cenário age diretamente na expansão de pontos de abertura. Torna porosas as barreiras, constrói dutos de comunicação entre áreas, funções e atuações distintas. Na fotografia, tais expansões e deslocamentos surgem, também, na forma dos coletivos.
A liberação do polo emissor, a percepção das várias participações externas no processo de criação, a ideia de uma fotograficidade que se articula no inacabável – e, consequentemente, reconstruído, ressignificado, apropriado por terceiros –, tudo isso forma um ambiente propício para a inclusão de novos sujeitos no fazer fotográfico.
O COLETIVO FOTOGRÁFICO CONTEMPORÂNEO
Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU
Gilles Deleuze e Félix Guattari
Nos capítulos precedentes, lançamos mão de todo um percurso que consideramos crucial para o entendimento dos coletivos fotográficos na atualidade: desde a relação entre sujeito e fotografia, até conceitos que tratam das articulações em rede, do processo criativo que se utiliza dessas articulações, dos paradigmas da pós-fotografia e da hiperfotografia, fortemente influenciados pelas possibilidades de reconfigurações, manipulações e revisões de antigos modelos epistemológicos e organizacionais.
Agora entraremos mais a fundo na conceituação dos coletivos, na diferenciação deles em relação aos outros modelos – agências, fotoclubes, etc. Buscaremos responder a questões chave de nossa pesquisa que passam por investigar as causas do surgimento desse novo modelo, com maior intensidade na primeira década dos anos 2000, bem como articular com os conceitos dos capítulos anteriores. Faremos isso atentos à nossa premissa de que o cenário pós-fotográfico, imerso em uma cultura de convergência, potencializador da lógica do rizoma em oposição a estruturas lineares ou arborescentes, responde por um papel estimulante na abertura para esse horizonte de um fazer coletivizado da forma como estamos estudando. Não uma coletivização de estruturas ou de objetivos em comum,
não apenas – embora também – uma saída comercial ou organizacional, mas uma coletivização em níveis ainda mais amplos, atingindo esferas de criação.
Devemos pensar o coletivo não como uma técnica, não como um resultado, não como uma organização formal, mas como processo. Podemos encontrar coletivos formalizados como empresas, organizações não governamentais (ONGs) ou cooperativas. O que importa aqui é a trama que envolve o fazer. John Tagg168 nos dá uma interessante visão de compartimentalização da produção através do circuito artista-galerista-crítico-museu, bem como das normatizações e padronizações. Normas técnicas, protocolos, hábitos, divisões de trabalho e outros procedimentos preconcebidos conduzem o desenvolvimento de diversos trabalhos e são contribuições de terceiros. O estilo que adotamos ao escrever dentro de uma normatização sofre essa influência daqueles responsáveis por tais regras. Ou seja, há uma junção de atores não apenas quando reunimos grupos interessados em trabalhar juntos, mas também nos processos e organizações mais cotidianas. Quando entramos num mercado e seguimos normas técnicas, protocolos ou mesmo hábitos, já estamos incorporando formatos estabelecidos por outrem.
Compartimentar os processos, criando novas etapas na produção de um bem – ou serviço – está na base do método industrial: do mais simples ao mais complexo objeto, a produção acontece seguindo uma cadeia de etapas, em geral executadas por operários distintos, que detêm conhecimento apenas de sua parte no processo. Os louros da produção – seja na forma de lucro ou de reconhecimento – ficam concentrados nos proprietários da fábrica ou da ideia, quando falamos da lógica industrial capitalista. Algo similar ao que acontece quando tomamos por exemplo a produção, compartilhada por natureza, de uma obra cinematográfica: ela não
168 TAGG, 2005, p. 45.
poderia acontecer sem a articulação de todas as especialidades envolvidas ao se construir um filme, mas existe aquele que detém o reconhecimento ou a assinatura pelo resultado geral, normalmente o produtor ou o diretor. Ou quando voltamos ao formato da agência, o reconhecimento recai sobre o fotógrafo que está na ponta do processo, o idealizador e produtor da imagem.
Ou seja, o compartilhado, interligado com outros atores, já estaria presente não apenas nos grupos que são formados, mas também por qualquer indivíduo que siga o modelo capitalista industrial ou que atenda a normas técnicas, legislações e outras formas de regulamentação impostas. Sem deixar de levar em conta os aspectos abordados por Salles169, que nos remete ao processo criativo permeado pela noção de rede. Mas isso não significa dizer que tudo é coletivo, que há colaboração em todos os processos e, por isso, não haveria sentido em falar numa diferenciação entre o fotográfico de um indivíduo ou de um grupo, nem que não haveria distinção entre as várias formas de criação na coletividade. Mesmo nos processos ditos individuais é possível identificarmos uma série de fatores e construções compartilhadas, mas isso não significa nivelar indistintamente todos os modelos como formas colaborativas de produção e reflexão. A diferença, por exemplo, não está no fato de existir um tratador de imagem no meio da cadeia produtiva de fotógrafos, mas do papel que esta função desempenha na criação, no fazer, e, principalmente, no reconhecimento como parte integrante do resultado. Podemos – e devemos – manter distinções entre a criação dita individual, o modelo de uma agência e o de um coletivo contemporâneo, mesmo que em todos os casos existam compartilhamentos, colaborações e divisão de tarefas. Quando a função é subordinada a um autor central e quando ela é colaborativa? Quando há trocas em mão dupla, de maneira equilibrada e quando há apenas o
169 SALLES, 2008.
atendimento a uma encomenda?
3.1 Individualidades diluídas
A nosso ver, a pesquisa empreendida nos permite afirmar existir diferenças significativas entre as diversas formas de agrupamentos entre fotógrafos, podendo considerar especificidades características do modelo que aqui denominamos de “coletivo fotográfico contemporâneo”. Iniciemos pela seguinte delimitação:
1. Grupos de fotógrafos – que podem ter entre seus integrantes especialistas de outras áreas como design, tratamento de imagens, jornalismo, artes visuais;
2. Onde há um reconhecimento da participação e da importância de cada um dos componentes não apenas na elaboração do produto final, mas no que há de fotográfico nesta elaboração;
3. Têm como elemento de aglutinação não apenas objetivos – comerciais, produtivos, profissionais – em comum, mas também o viés da afetividade, o compartilhamento da experiência;
4. Caracterizam-se por uma forte presença da discussão e da crítica durante o processo de produção – do planejamento à finalização – em que as individualidades são diluídas em prol da construção de uma identidade coletiva, independentemente de a obra resultante ser assinada com ou sem referência a um fotógrafo específico;
5. Atrelam alternativas de articulação com o universo externo que também se dão de maneira coletiva. Tais alternativas passam por modos de financiamento (crowdfunding, editais, etc.), mas também pelas demais articulações com o universo exterior ao grupo, como novas conexões ou espécies de linhas de fuga.
Não há uma fórmula fechada, em que cada componente
ou característica apareça em porções previamente definidas. Os coletivos são dinâmicos. Faz parte de sua natureza o rearranjo, a revisão constante, abertura para novos formatos. Nem tampouco a necessidade de que todas as características citadas façam parte da composição ou organização de um coletivo contemporâneo. Mas veremos como tais aspectos se relacionam na formação desse modelo.
Para falar de um coletivo, partimos do pressuposto óbvio de se tratar de um grupo. Mas algo importante no primeiro ponto é o fato de este grupo não ser, necessariamente, formado apenas por fotógrafos e sim trabalhar com a possibilidade de agregar outras especialidades, tendo essas funções específicas um papel fundamental na construção da obra fotográfica final, ou seja, não apenas a consciência de que o resultado demanda especialidades distintas, mas que tudo isso pode ser incorporado como força de criação, não somente a ideia de executores de serviços. Estamos falando de designers, tratadores de imagens ou diretores de audiovisual, que são áreas afins, que lidam com imagens, que já manipulam fotografia nas suas respectivas áreas. Ou, mesmo que formado por vários fotógrafos, a principal ideia é de que não trabalham individualmente na sua fotografia, mas que a integração e o compartilhamento serem ingredientes preciosos nesta receita. Esses exemplos dizem respeito diretamente ao segundo ponto listado, que trata do reconhecimento como ingrediente de um coletivo. Laboratoristas, tratadores de imagens, designers, administradores, todas essas funções podem fazer parte – e é comum que façam – de agências, por exemplo. Ou mesmo no fluxo organizacional de um fotógrafo individual, que usa os serviços de um laboratório ou de um birô de impressão – com pós-produção, tratamento. Mas não há o reconhecimento de que esta função específica esteja atrelada ao processo criativo, seja parte inte-
grante da criação. O mais comum é que ela seja parte de uma engrenagem movida pelo fotógrafo-autor, que seja uma função que atende ao pedido de um fotógrafo, que segue suas ordens e não que haja uma contribuição efetiva na criação da obra. Nos coletivos contemporâneos, a integração de diversos atores e funções diferentes acontece também no fazer fotográfico, diferentemente do que é visto em outras organizações onde isso fica restrito a atividades comerciais ou estruturais. Como no caso da agência francesa Magnum, que foi criada como uma espécie de redoma, distanciando os fotógrafos da relação comercial e burocrática, dando a eles maior liberdade de criação e aprofundamento nos temas fotografados. Há um compartilhamento da estrutura comercial, mas a criação é mantida na mão de indivíduos, que em muitos casos nem se falam entre si.
Desenho 3: No coletivo, todos os integrantes se ligam uns aos outros, formando um corpo no qual não há mais sentido em se manter as individualidades destacadas.
Aumentemos o contraste entre os dois modelos, para estimular a discussão. Na agência, percebemos um agrupamento de diferentes especialistas, enquanto que no coletivo contemporâneo há a busca por uma sinergia que tire proveito das potencialidades de cada um, numa lógica de inteligência coletiva.
Obviamente que, falando nesses termos, uma agência também busca aproveitar as potencialidades, mas faz isso mantendo uma hierarquia e uma divisão nas funções num fluxo linear, de encomenda e atendimento ao solicitado. Nos dois grupos os conhecimentos específicos são utilizados, porém a grande diferença é que quando isso é feito de maneira integrada o resultado pode ser maior do que simplesmente a soma dos valores isolados.
São vários os sujeitos, cada um com suas singularidades, mas não é apenas dessa variedade que um coletivo se compõe. Surgem outras modalidades de pensar justamente no encontro destas singularidades: há o choque, a explosão das ideias que se confrontam e resultam em outras cujo número é desconhecido e incontrolável170 .
Se derivarmos um pouco para um exemplo exterior à fotografia, poderíamos observar a diferença entre uma orquestra sinfônica e um grupo de jazz. Claro que é possível encontrar exemplos que fujam ao que vamos trazer aqui, mas, em geral, teríamos de um lado uma hierarquia estruturada – com papéis bem definidos entre compositor, partituras, regente, músicos, solistas, etc. – e de outro o improviso, a alternância entre papéis, numa composição bem menos linear. Os dois grupos são capazes de criações magníficas, contam com indivíduos geniais e fizeram história no campo da música. Mas são modelos muito diferentes em suas maneiras de organização e de criação. De Masi fala da criação de “gênios coletivos compostos de sujeitos individuais não necessariamente geniais”171. O segredo seria instaurar
170 PAIM, 2012, p. 53.
171 DE MASI, Domenico. Criatividade e grupos criativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p. 585.
um clima favorável, que multiplica e enriquece a troca de informações em todos os níveis, elimina as ameaças e os medos, potencializa a coragem de tentar e errar, atrai do exterior os melhores cérebros, protege os participantes com personalidades mais fracas e os ajuda a permanecer no grupo, determina a sintonia e a ‘extensão de onda’ comum, graças às quais é mais fácil colher as mais sutis intuições, que frequentemente se revelam resolutivas172 .
Estas características estão em conformidade com o conceito de inteligência coletiva, que é, segundo Jenkins173, um dos pilares da cultura de convergência. Neste conceito174, que se contrapõe à ideia de especialista, cada pessoa tem algo a contribuir para a construção do conhecimento, as questões são mais interdisciplinares, fronteiras de conhecimento são quebradas e a hierarquia (quando existe) entre os participantes tende a ser mais flexível ou mais simplificada (com menos níveis e diferenciações).
Como afirma Ronaldo Entler, os coletivos “exploram em profundidade aquele que parece ser o maior potencial desse tipo de experiência: a criação colaborativa”175. Eles trazem para dentro de seus círculos a lógica de uma criação em rede, aceitando e tirando proveito das ligações possíveis, reverberando no seu interior as “características aproximativas do rizoma”, com todas as suas inerentes articulações com pontos externos. “Seu caráter complexo e múltiplo se define pelo ‘fora’, porque sempre encontram suas ‘linhas de fuga’, mas essas linhas continuam sendo parte do rizoma, num movimento de ‘desterritorialização’ e ‘reterritorialização’”176 .
Tais linhas de fuga e ligações externas, não raro, acontecem
172 DE MASI, 2003, p. 590.
173 JENKINS, 2006.
174 O conceito “inteligência coletiva” é de Pierre Lévy (2000).
175 ENTLER, Ronaldo. Os coletivos e o redimensionamento da autoria fotográfica. In: Studium, n.32. São Paulo: Unicamp, 2011.
176 ENTLER, 2011.
na forma de trabalhos desenvolvidos em conjunto com outras equipes – estendendo para fora do coletivo seu método de funcionamento – ou através da participação efetiva em debates conceituais ou políticos. Eduardo Brandão destaca um diferencial para ele crucial: a discussão e a crítica são incorporadas ao trabalho durante a fase de produção177, enquanto que no processo individual, isso só passa a estar presente depois da obra finalizada. “Com essa capacidade de produzir conexões, sua atuação política pode ser efetiva, sem ser necessariamente escandalosa ou panfletária”178. O coletivo fotográfico contemporâneo não é um movimento político cuja bandeira seria a revisão do estatuto do autor. “Mesmo que os coletivos aceitem e estimulem esse debate, mesmo que isso defina algumas de suas práticas […] e, por fim, mesmo que tomemos o problema da autoria como foco desta reflexão, é importante evitar tal exagero”179. A discussão sobre autoria não é o objetivo da criação de um coletivo, mas acaba sendo incorporada naturalmente às questões levantadas por essa prática. Sua organização interna, abertura para a crítica e para o diálogo em todas as fases do planejamento e da produção, abertura para o reconhecimento dos vários atores como coautores, quebra a estrutura que orbita em torno de um gênio criador – ou que, pelo menos, o tem numa das pontas da cadeia.
Os coletivos estão para a lógica do rizoma assim como as agências estão para o modelo arborescente. A figura da árvore se molda numa estrutura hierárquica e estável, com ramificações estabelecidas dentro de uma ordem prévia e rígida. O rizoma se forma pelas ligações e sempre que alguma conexão é quebrada, opera-se uma ruptura e uma linha de fuga.
177 BRANDÃO, Eduardo. Palestra. Encontro de Coletivos Ibero-Americanos. São Paulo, 2008.
178 ENTLER, 2011.
179 ENTLER, 2011.
Desenho 4: O círculo maior representa o coletivo, que possui no seu interior outros círculos menores representando os seus integrantes. Eles formam um só corpo: há uma diluição de suas individualidades. Este, por sua vez, se liga a atores externos (galerias, produtoras, clientes, outros fotógrafos, etc.) de diversas formas.
Todo grupo é formado valendo-se de afinidades, que podem acontecer como compartilhamento de objetivos comerciais ou de pesquisas estéticas. Quando entendemos que o coletivo contemporâneo atua num viés mais amplo de articulação, é natural que a afetividade também seja um componente importante de aglutinação. Ao observar o funcionamento desses grupos, percebemos que existe uma espécie de amálgama que vai além de relações profissionais ou comerciais. Alguns chegam a assinar coletivamente, deixando de lado qualquer referência específica àqueles que estiveram diretamente envolvidos no desenvolvimento de
um projeto. Em outros casos, embora o crédito de um trabalho seja dado a um indivíduo – ao fotógrafo responsável – há um reconhecimento de que o trabalho não seria o mesmo se não fosse a participação indireta do coletivo.
Na tabela a seguir trazemos de modo esquemático alguns dos aspectos que tratamos ao longo da pesquisa como distinção entre os dois modelos.
Agência fotográfica
Lógica industrial
Árvore
Criação individual
Modelo um-todos
Paradigma do fotográfico
Especialista
Coletivo fotográfico contemporâneo
Lógica pós-industrial
Rizoma
Criação em rede
Modelo todos-todos
Paradigma do pós-fotográfico
Conhecimento compartilhado
É importante chamar a atenção para um aspecto no que diz respeito à junção de indivíduos distintos na formação de um novo corpo. Essa ligação é a espinha dorsal dos coletivos, é nela que tudo se sustenta. Ela alimenta e se alimenta desses conceitos acima discutidos, na possibilidade de um trabalho compartilhado. Ao falarmos da diluição das individualidades devemos enxergar não a ideia de um apagamento por submissão, mas na valorização das contribuições diversas na formação de algo novo que, de tão entranhado nessas várias misturas, perde o sentido de manter alguma separação entre esses indivíduos. Como no exemplo da liga metálica, em que dois metais distintos formam algo que não pode ser enxergado apenas como a soma dos dois, mas como uma terceira coisa com características diferentes que vão além da potencialização de determinadas propriedades presentes nos diferentes elementos que compõem a liga. Ou seja, não se trata de uma diluição como diminuição. Tal
leitura comprometeria o sentido de muito do que estamos tratando. Devemos mirar a riqueza dos encontros e as energias e possibilidades criativas que surgem daí.
3.2 O universo dos coletivos contemporâneos
A temática dos coletivos tem gerado muitas discussões. Isso tem acontecido nas redes sociais – ou em blogs especializados em fotografia, como o exemplo citado do Trama Fotográfica –, mas também em outros fóruns. Muitos debates e palestras já contaram com a participação de coletivos, em geral discutindo suas características de trabalho e modelo de organização. Obviamente apresentam trabalhos, discutem conceitos, mas muitas vezes grande parte do interesse se projeta no modo de operação, nas dificuldades e vantagens de ser um coletivo. Embora de maneira mais pontual, também é possível observar algumas ações mais exclusivas sobre os coletivos. Sem contar aqueles casos em que um encontro anual dedica uma edição ao assunto, como foi o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre de 2012, cuja temática era “A experiência coletiva”, podemos listar alguns eventos dedicados somente a esses grupos. Esses debates são importantes para enxergarmos confirmações ou contradições. O desencadeamento do interesse por juntar esses grupos e promover maiores trocas parece, por si só, confirmar a ideia de um fenômeno novo e que revigora a reflexão sobre fotografia. São muito importantes também para aqueles que já fazem parte – ou pretendem fazer –de um coletivo. Cada vez mais fotógrafos estão encarando essa possibilidade. Vejamos alguns exemplos de encontros e também de duas publicações enfocando essa temática:
Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos
São Paulo, 2008, reuniu 10 coletivos de sete países. Composto por palestras, debates, exposições e desenvolvimento de projetos, foi o primeiro evento enfocando especificamente os coletivos fotográficos contemporâneos. Ver www.laberintodemiradas.net/encontro.
Encuentro de Colectivos Fotográficos Euroamericanos
Madri e Soria (Espanha), 2010, reuniu 20 coletivos de 20 países (alguns coletivos possuem mais de um país em sua formação). Teve como objetivo criar um espaço de reflexão e dar dimensão à forma de trabalho desses grupos. Site: http://www.fotoeco.es.
E.CO/14
Edição do Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos, em Santos, convidou 20 coletivos de 13 países, além da participação de muitos outros através de uma convocatória pública. Buscou estimular redes de trabalho colaborativo envolvendo também outras formas de fazer imagem como cinema e artes visuais. Site: http://ecosantos.art.br/.
Laberinto de Miradas
Livro catálogo de projeto de mesmo título, que levou uma série de exposições a diversos países das América Latina e da Europa. O projeto aborda a fotografia documental Iberoamericana por três vieses, sendo um deles o dos coletivos fotográficos. Possui o curador e idealizador Claudi Carreras em comum com os três encontros aqui listados.
Zmâla
Revista francesa, com tiragem anual, especializada nos coletivos fotográficos. Publicou quatro números, de 2009 a
2012. Além de artigos enfocando trabalhos desenvolvidos pelos grupos, traz informações mais objetivas no sentido de “quem é quem”. Dá um espaço maior aos coletivos franceses. Acesse www.zmala.net, para conhecer um pouco mais.
Observando os coletivos listados por cada uma dessas iniciativas, chegamos a uma lista de mais de sessenta nomes, da qual podemos tirar várias observações. Uma delas é que há uma flexibilidade grande na delimitação do modelo. Observamos que diversos grupos não apenas se autodesignam agências, como funcionam dessa forma. Sabemos que existe uma certa confusão entre esses modelos – tentar perceber melhor as nuances é objetivo deste livro –, mas muitas vezes um grupo inicia seus trabalhos usando o termo agência, embora amplie as possibilidades de colaboração. E vice-versa. De qualquer maneira é interessante perceber essas ocorrências como modo de observarmos o campo sobre o qual nos debruçamos.
Além de exemplos que estariam melhor colocados como agências, a listagem incluiu escolas e projetos sociais que foram anexados à exposição Laberinto de Miradas, que fogem do formato aqui estudado. A inclusão da Zmâla é importante pelo enfoque especializado que ela traz, mas implica um número maior de coletivos franceses na amostragem. Não devemos tirar esses desvios do estudo, mas considerá-los como tensões que envolvem a temática. Se focarmos nos coletivos que tiveram um maior número de citações, chegaremos num montante bem menor. Por exemplo, se considerarmos a lista daqueles que participaram ao menos de três dos eventos e publicações listados, nossa relação cai para dez grupos: Blank Paper (Espanha), Cia de Foto (Brasil), Kameraphoto (Portugal), Mondaphoto (México), Nophoto (Espanha), ONG (Venezuela), Pandora (Espanha), Ruido Photo (Espanha), Sub Coop (Argentina) e Supay Photo (Peru)180.
180 Veja uma listagem ampla de coletivos, incluindo esses aqui citados, no apêndice.
Desses, apenas o ONG foi criado antes dos anos 2000.
Tal constatação é importante na medida em que trabalhamos com a premissa de que os coletivos surgem num cenário fortemente influenciado pela cultura de convergência181. A crescente digitalização que a sociedade vive permite que diversos processos e linguagens sejam trazidos para um denominador comum no que diz respeito às plataformas de trabalho. Num mesmo dispositivo, seja um computador ou um celular, podemos trabalhar som, imagem, texto. Quando dizemos trabalhar, estamos nos referindo a captar, editar, transmitir. Estamos falando em não apenas consumir, mas também em produzir ou interferir. Nada disso foi inventado pela internet ou pelos tablets. Se hoje “rede social” é sinônimo de alguns sites, portais ou aplicativos ambientados na web, é apenas uma forma de expressão, amparada pela ideia de rede social presente nos círculos presenciais-físicos-tradicionais, como clubes, escolas, igrejas, bairros, etc. Ou seja, reconfiguramos nossas relações sociais considerando as possibilidades de interação que se abrem com esses novos ambientes e tecnologias.
A cultura da atualidade, permeada pela interatividade e digitalização, é ambiente propício para o desenvolvimento de inteligências e formas de produção coletivas. Seja na Wikipedia, seja no Facebook, nos deparamos com um volume incalculável de conteúdo produzido, disponibilizado, publicado, editado pelos próprios usuários. Veículos tradicionais buscam acompanhar tais características desenvolvendo plataformas onde a interatividade seja possível. Ou mesmo incorporando aos seus produtos conteúdos produzidos pelos leitores/espectadores.
Os coletivos fotográficos atuam nesta mesma lógica de compartilhamento, trazendo para dentro de seus processos a permeabilização das fronteiras entre as várias funções desempenhadas pelos seus participantes. Se a industrialização trabalha na com-
181 JENKINS, 2006.
partimentalização – um produto é fruto da ação interdependente de vários atores que atuam isoladamente nas suas várias especialidades – o coletivo age no sentido inverso em que tais limites são diluídos, muitas vezes confundidos. “Interatividade. Hipertextualidade. Convergência. São conceitos e práticas postos no cenário das comunicações nos últimos anos. A mudança chave, nesse percurso de mudanças pode ser percebida, em termos gerais, na mudança da relação com os meios de comunicação”182. Saímos do modelo de comunicação massificada do “um-todos” para o de interatividade melhor definido pela lógica do “vários-vários”.
3.3 Cia de Foto
O coletivo paulista Cia de Foto foi fundado em 2003 e existiu por dez anos, inicialmente num modelo que se aproximava mais ao de uma agência fotográfica tradicional, com maior foco no fotojornalismo diário. Pio Figueiroa e Rafael Jacinto contam que já havia algo se formando desde 2000 numa direção que podemos chamar de embrionária em relação ao formato que a Cia adotaria depois. Eles participaram da equipe que trabalhou nas edições piloto do jornal Valor Econômico183. Já era possível identificar ali alguns aspectos que surgiriam com mais clareza no modelo de ação amadurecido posteriormente na Cia. “Eu e o Pio já ensaiávamos o que seria um trabalho coletivo dentro do próprio jornal. Se estávamos tranquilos, íamos juntos às pautas, fazíamos pausas em cafés e livrarias, buscávamos referências, trocávamos pautas, cobríamos um ao outro quando tinha um freela, assinando como tal”184. A prática de um fotógrafo “dar cobertura” a outro não é tão rara no meio fotojornalístico,
182 SILVA JUNIOR, 2011.
183 Jornal diário especializado em economia, fundado em 2000, que chegou com um projeto gráfico e de imagem arrojado em relação ao segmento, cuja maior referência até então era a Gazeta Mercantil (que não trabalhava com fotografia nem cor).
184 JACINTO, Rafael. Entrevista concedida ao autor por e-mail. Em 7 de novembro de 2011.
acontecendo até mesmo entre repórteres de veículos concorrentes. Como vimos, estava lá no início do percurso de Robert Capa, fundador da agência Magnum, quando ele e sua companheira Gerda Taro produziam sob o mesmo pseudônimo. Ou também acontece quando, numa pauta importante, um fotógrafo tem algum problema e usa uma foto cedida por um colega para suprir sua lacuna. Assim como o uso de pseudônimos ou nomes artísticos em substituição ao seu nome de nascença também é uma prática comum. Essa observação é importante uma vez que uma das resistências sofridas pelos coletivos se materializa num discurso contra o crédito coletivo, com argumentos de que isso seria um retrocesso em relação a conquistas importantes da categoria, como a obrigatoriedade de referência ao autor da imagem nos veículos jornalísticos.
A experiência na criação do que seria a fotografia do novo jornal foi um importante laboratório também para o que eles viriam a fazer “em oposição” ao jornal. Tentemos explicar melhor. O jornal iria ser lançado, havia uma busca por criar algo inovador, existia uma liberdade de se inventar um modelo que não precisaria ser uma reprodução das redações já existentes. Na equipe, profissionais experientes, numa mescla que envolvia desde um modelo de competição interna bastante comum nos veículos tradicionais até fotógrafos em busca de formatos diferentes de trabalho. “Isso se deu em um regime isento das obrigações e dos prazos de uma publicação diária, pois era uma época em que o Valor não ia para rua. Acho que foi ali o despertar da vontade de ‘projetar’ em fotografia mais que executar um dia a dia profissional previsível”185. Passada a fase piloto, agora com o jornal “na rua”, circulando, perde-se um pouco da liberdade e há um enquadramento nas práticas usuais, na reprodução de fórmulas aprovadas.
A Cia de Foto é formalizada em 2003 para funcionar como uma editoria de fotografia terceirizada do Valor Econômico. Mas
185 FIGUEIROA, Pio. Entrevista concedida ao autor por e-mail. Em 8 de novembro de 2011.
essa fase dura apenas seis meses, quando a equipe de prestadores é reincorporada ao jornal e a agência, agora resumido aos sócios-fundadores, vai buscar seu rumo. Vale a ressalva: aqui a Cia de Foto ainda funcionava no modelo que neste trabalho estamos considerando como agência, diferentemente do formato que eles viriam a atuar depois, alinhado ao que chamamos de coletivo contemporâneo. Estamos no primeiro semestre de 2004, quando João Kehl entra para o grupo. Inicialmente foi chamado para ser assistente num contrato que duraria cerca de três meses. “João simbolizava quase que o objetivo de se criar a Cia. Ele refletia um potencial que a gente tinha, mas, até então, tratávamos sem muito método ou pertinência. João começou a significar a possibilidade de desenvolvermos o exercício da linguagem como expressão pessoal”186 .
Em pouco tempo as dinâmicas internas foram se ajustando num formato de trabalho que integrava os fotógrafos em um compartilhamento maior dos projetos, a ponto de perder o sentido a manutenção dos nomes individuais acima do grupo. “No começo, éramos uma junção de diferentes pontos de vista, mas a nossa sinergia se tornou tão grande que, atualmente, a gente se confunde sobre quem é o autor das fotos. Tudo é decidido em conjunto, ficamos o dia todo juntos”, conta Rafael Jacinto187. Essa prática de fotografarem juntos trouxe um “problema fundamental” para a assinatura do trabalho, como nos explica Pio Figueiroa: dividíamos qualquer demanda que surgia. Nessa época, a Cia de Foto acontecia mesmo no momento do clique fotográfico. [...] Então produzir fotos na Cia de Foto, sobre o regime que nascia ali, não poderia promover [uma] forma convencional de assinatura. Uma foto não deveria mais ser creditada a um trabalho individual. Veio então a decisão consequente pelo crédito coletivo188
186 FIGUEIROA, 2011.
187 ELIAS, Érico. A Hora e a Vez dos Coletivos Fotográficos. Revista Fotografe Melhor, ano 13, edição 148, janeiro de 2009, pág 52-61.
188 FIGUEIROA, 2011.
O regi me ao qual Pio se refere é o do crédito autoral individual, que permite um reconhecimento no mercado através de um nome e sobrenome associado à imagem. Ele chega a afirmar que não guarda trabalhos significativos da época anterior ao coletivo.
Em dezembro de 2006, a Cia de Foto recebe Carol Lopes, que entra para suprir uma necessidade do grupo de ter uma pessoa mais especializada no tratamento das imagens. Alguém que ampliaria a pesquisa dentro do coletivo voltada para a pós-produção e o tratamento, sendo formada e contribuindo para um método de captação e fluxo das imagens já iniciado na Cia. “Carol demorou um ano para ter um bom nível técnico, e mais dois para começar a somar com uma contribuição autoral. Nesse momento ela virou sócia do grupo. Isso se deu, inclusive, para lhe garantir os direitos patrimoniais do que estava sendo criado”, conta Pio, levantando um aspecto importante quando se fala em autoria coletiva, uma vez que as leis que regem esse campo do direito189 recaem sobre a pessoa física, sem espaço para grupos formal ou informalmente compostos. Depois de anos de amadurecimento, a Cia de Foto era formada por um núcleo de criação fixo, composto por Carol, João, Pio e Rafael, todos sócios, além de uma equipe de apoio composta por uma coordenadora da área comercial, uma gerente e um assistente de fotografia. Além disso, o coletivo mantinha uma série de articulações externas, algumas de longa data, com outros profissionais, agências ou agentes dos mercados onde atuam. Algumas destas parcerias eram “quase fixas” tamanha a quantidade de projetos em comum.
A Cia de Foto não se basta como coletivo. Nossas pesquisas sempre envolvem mais gente. É bem difícil um projeto que seja realizado somente pelos quatro integrantes. Por
189 No Brasil, o direito autoral é regido pela lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Embora seja admitida a coautoria, ou seja, uma obra pode ser produto de mais de um autor, não é reconhecida a autoria de grupos ou instituições. Apenas pessoa física pode ser autor protegido por tal legislação.
exemplo, toda pesquisa que envolve música tem a parceria autoral de Guab, um amigo DJ. Outra relação intensa que temos é com alguns pesquisadores como Ronaldo Entler, Lívia Aquino, Claudia Linhares Sanz, Maurício Lissovsky, com quem nos identificamos com as pesquisas190
O núcleo central era responsável por todas as decisões e direcionamentos do coletivo. Fotografavam juntos, discutiam projetos, definiam o posicionamento do grupo frente aos vários mercados onde atuavam. Embora os papéis se alternassem, era possível identificarmos algumas áreas de atuação mais específicas de cada integrante. Eram aproveitamentos das aptidões particulares ou mesmo do interesse de cada um. Mas não se tratava de uma divisão rígida, eram direcionamentos, apenas. Um integrante podia ter funções completamente diferentes dependendo do projeto. Ou podia até não participar de determinados trabalhos. Não existia um organograma fixo, linear, como na maioria dos modelos organizacionais. Havia uma constante participação com opiniões e críticas, independentemente de sua função. Rafael destaca: “tudo isso é muito misturado. Somos sócios. Todos têm direito de opinar em tudo, independentemente dessa obrigação mais direta ou da porcentagem da sociedade”191.
Nesse reconhecimento das aptidões, Carol Lopes contribuía mais fortemente com o tratamento de imagens, a pós-produção e também atuava nos projetos expositivos e posicionamento no mercado de arte. João Kehl tinha o papel de cuidar mais do fluxo da produção fotográfica, da pesquisa na pós-produção e no direcionamento financeiro. Pio Figueiroa se dedicava à articulação com a pesquisa teórica e com o campo da arte, responsável por uma certa instabilidade no coletivo, no sentido de colocar questões e estimular as tensões. Rafael Jacinto dominava a parte tecnológica
190 FIGUEIROA, 2011.
191 JACINTO, 2011.
e de edição de vídeo, bem como desempenhava uma função de estabilidade. Os dois sócios fundadores, Pio e Rafael, cuidavam do posicionamento mais geral do grupo. Como já foi dito, essas funções não eram fixas nem estanques. Todos contribuíam com tudo, mas alguns aproveitavam suas experiências e desenvolvimento em determinadas áreas mais específicas, uma maneira de potencializar as qualidades individuais em busca de um melhor resultado comum.
A Cia de Foto atuava nos mercados editorial, de publicidade e de arte. Os trabalhos publicitários eram responsáveis pela maior fatia do faturamento e, consequentemente, o que sustentava o grupo financeiramente. A coordenadora da área comercial e sua assistente eram responsáveis pelo atendimento a agências, captação e administração dos trabalhos neste meio. A Cia também atendia ao mercado de filmes publicitários com direção de cena e direção de fotografia. Neste caso, representados pela ParanoidBR, uma produtora que reúne diversos diretores no Brasil, responsável por toda a parte comercial e administrativa relacionada a esse nicho específico. Em publicidade, atenderam clientes como Itaú, Nikon, Vivo, Nike e Brastemp. Para o meio editorial, enfatizavam veículos estrangeiros, como Newsweek, Times, National Geographic e Colors. Também atuaram no mercado de arte, sendo representados pela Galeria Vermelho, acumulando um histórico repleto de mostras nacionais e internacionais, além de terem uma forte participação em eventos e debates sobre fotografia, demonstrando uma busca constante por uma pesquisa teórica e conceitual sobre fotografia. Seus projetos visavam, em muitos casos, trazer discussões sobre o próprio ato fotográfico ou questionamentos acerca do papel da imagem no mundo contemporâneo. “Dentro da Cia, temos uma cultura de tratar a Cia como nosso principal cliente, ou seja, tudo o que produzimos, produzimos primeiro pra gente. Todo resultado é fruto de uma negociação e só vai pro mundo depois de uma certa
aprovação interna”192
Um mesmo trabalho podia transitar entre territórios nem sempre amigáveis da comunicação e arte, saindo de um projeto pessoal, para ilustrar uma matéria jornalística, compor um anúncio publicitário e posteriormente ser vendido numa galeria de arte. Como podemos ler no post intitulado “Transitando entre mercados”, publicado no blog da Cia em abril de 2011193: “nunca houve na gente a possibilidade de separar a relação de uma produção comercial de uma autoral. Aliás, a hora em que faltou dinheiro muita coisa deu errado, interferindo em nosso humor e em nossa capacidade criativa. O que acontece hoje em dia é que lidamos com diferentes meios, e todos eles são mercados!”. Ao mesmo tempo em que a Cia participava de diversos eventos ao redor do mundo, atuava no território da web, produzindo conteúdo nos seus espaços próprios (site, blog, Flickr, etc.) e colaborando com outros ambientes, levantando questões, criticando ou dividindo opiniões. Como se “devolvessem” essa característica internalizada de discussão para outros territórios.
Isso que estamos chamando de “devolução”, como um caminho de volta, significa a aplicação de um princípio, que identificamos como pertencente ao cenário de convergência: a participação ativa dos vários atores, a discussão, a via de mão dupla. Os coletivos, da forma como estamos tratando aqui, surgem envoltos num ambiente em que se perde o sentido pensar numa comunicação massificada, que segue apenas um sentido, o do um-todos. É uma característica não apenas dos coletivos, mas de toda a sociedade permeada pela cultura de convergência, essa lógica da colaboração, da interatividade, da contribuição e apropriação em mão dupla. Um fluxo em que a divisão emissor/ receptor não é tão clara como já foi um dia. A Cia existia como
192 KEHL, João. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 30 de novembro de 2011.
193 Ver http://ciadefoto.com.br/blog/?p=4232
um rizoma, resultado mesmo da ligação de vários pontos formados não apenas por pessoas, mas também por ideias, referências, etc. E era também um ponto que se ligava a muitos outros, externalizando seu modo de operação nas ligações que fazia através das colaborações com blogs, debates, em trabalhos colaborativos e eventos.
Um exemplo disso foi o trabalho “São Paulo de Muitos”. No aniversário de 456 anos da cidade de São Paulo, em 2010, a editora da Revista da Folha, do jornal Folha de S.Paulo, convidou a Cia de Foto para ocupar duas páginas em homenagem à cidade aniversariante. Em vez de pesquisar material de arquivo ou mesmo de produzir um ensaio especial, eles lançaram o convite para que fotógrafos de qualquer lugar participassem desse espaço enviando fotografias sobre São Paulo. Em cinco dias, prazo para o fechamento da revista, receberam mais de 200 imagens. Todas elas foram publicadas não apenas na versão impressa, mas também na forma de vídeo disponível no site do jornal194. O DJ Guab, parceiro em muitos dos projetos do coletivo, compôs uma trilha especialmente para o vídeo. Ronaldo Entler, ao comentar essa ação, torna clara a ligação direta entre os coletivos e os princípios relacionados à cultura de convergência. “O coletivo já é em si uma rede, espécie de microcosmo análogo ao cosmo da internet, que por sua vez é análogo ao macrocosmo que chamamos de cultura”195.
O DJ Guab também esteve presente em outro projeto da Cia que merece ser citado: Carnaval. Desta vez não seria o ambiente editorial, de uma revista, que abrigaria a obra, mas sim o de uma galeria de arte. A captação das imagens foi feita na Bahia, em pleno carnaval, durante os desfiles de trios elétricos, símbolo
194 A Cia de Foto criou um site específico para abrigar o SP de Muitos. Inclui todas as imagens, comentários e o vídeo publicado. Acesse: http://ciadefoto.com.br/spmuitos.
195 ENTLER, Ronaldo. Coletivizando o coletivo. In: Icônica (site). 2010.
dessa festa baiana, que arrasta multidões, massivamente fotografado e televisionado ano após ano. Mas, limitar este trabalho ao momento da captação seria reforçar uma visão da fotografia à qual todo o discurso e articulação dos coletivos procuram se contrapor. A obra passa realmente a existir nas intervenções e construções a partir da captação. O conjunto da obra é composto por imagens pinçadas dessa multidão extasiada, que, descontextualizadas pelo recorte e tratamento de imagem – dessaturadas, contrastadas, densas – não nos remetem de forma alguma ao carnaval baiano como estamos acostumados a ver.
São fotografias escuras, sem o colorido pasteurizado – e, em geral, de tons cítricos – dos blocos e as expressões nos rostos muitas vezes chegam mais perto de um sofrimento do que da “irreverência e alegria”196 tão disseminada pelos veículos de comunicação. A trilha que acompanha as imagens, envolvendo o ambiente da galeria, é uma tradução sonora da informação binária das fotografias. Não se trata de uma interpretação ou inspiração, mas de uma pesquisa diretamente no código fonte das imagens, se assim podemos dizer. Guab e Cia foram buscar nessa base digital comum às linguagens de cada um deles – música e fotografia, respectivamente – a matéria (imaterial) de trabalho. Mexem com questões relativas ao processo de digitalização, conforme visto no capítulo anterior, na sua essência. Tocam no ponto de que tudo isso que chamamos de convergência não se trata apenas de transpor meios – levar do impresso para o eletrônico – ou juntar funcionalidades num mesmo dispositivo. O pós-fotográfico modifica a nossa maneira de lidar com o fotográfico.
Os coletivos fotográficos contemporâneos atuam a partir de um paradigma pós-fotográfico197, são hiperfotográficos198,
196 Expressão pegajosa presente na quase totalidade das narrações das TVs e rádios durante o carnaval.
197 SANTAELLA, 2005.
198 RITCHIN, 2010.
seguem uma lógica hipertextual, não linear, com múltiplas possibilidades combinatórias na construção de discursos. No “São Paulo de muitos” esses links se formaram através da Internet – que possibilitou a rápida disseminação e consequente participação de tantos colaboradores em tão pouco tempo. Em “Carnaval”, temos o código digital como ingrediente primário para a elaboração da obra. São muitas as maneiras como o cenário atual influencia – num fluxo de apropriação mútua – a ação dos coletivos, não apenas no viés tecnológico mais direto e pragmático, mas, principalmente, conceitual. Eles “são” esse universo, estão impregnados e atuam diretamente nas reconfigurações da sociedade. As experimentações e reflexões passam também pelas suas próprias relações pessoais, fotográficas, afetivas.
3.4 Caixa de sapato
O projeto que, a nosso ver, traz mais articulações com as características aqui analisadas é o “Caixa de sapato”, cujo nome faz referência a algo comum nas famílias e grupos sociais, que é aquele amontoado de fotos da família, dos amigos, de pessoas próximas, muitas vezes guardadas numa caixa – de sapato ou não – embaixo da cama, na prateleira mais alta do armário, num cantinho da cômoda. São uma espécie de inventário da existência dessas afetividades, produzido por pessoas diferentes, na maioria das vezes sem nenhuma referência ao autor. Ali estão situações, gente, lugares e objetos retratados num tempo incerto, anexados à memória também num momento cujo registro temporal não segue a ordem cronológica dos acontecimentos reais. Algumas famílias organizam suas fotografias contendo informações mais objetivas, outras simplesmente acumulam imagens que formam ligações nem sempre reais, embaçadas pelas lembranças e pelos esquecimentos. Numa caixa de sapato, novas narrativas se
formam, novas ligações surgem e outras desaparecem. No projeto da Cia de Foto, o que vemos é uma imensa imbricação de sentimentos e vivências, num relato cotidiano dos integrantes e do universo circundante do coletivo. Um universo de afetos e de coletividade fotografado também por uma coletividade. Estão lá os fotógrafos, a família, os amigos, a Cia de Foto, a rua, as viagens, as confraternizações, as alegrias, as tristezas, perdas e nascimentos. Algumas pessoas podem ser reconhecidas em várias das fotografias, em momentos diferentes, embora muitas outras não sejam reconhecíveis por conta de desfoque, borrados, de estarem em áreas escuras ou escondidas de alguma forma.
Neste trabalho, não é o viés estético que dá amarração ao conjunto. O Caixa de Sapato é alinhavado pela abordagem temática. As situações retratadas vão de um prosaico passeio de final de semana na vizinhança a reuniões e celebrações entre amigos, passando por relações sexuais ou retratos mais posados. Várias são as cenas em banheiros, cozinhas, corredores. Estão lá o andar, o dormir, o acordar, o comer, o tomar banho, o dançar, o brincar e até o urinar do mundo da Cia de Foto. São os fazeres cotidianos, aqueles sobre os quais não se fala muito, mas que passaram a ser tema da produção cotidiana de fotografias ainda com mais intensidade com o advento da digitalização199, que promove um passo adiante na proliferação desses registros. Diversas foram as novas tecnologias fotográficas que contribuíram com ondas de popularização e massificação da fotografia, como, num exemplo rápido, a Kodak do final do século XIX, entre muitos outros exemplos. Podemos comprar uma cópia impressa com fotografias do Caixa de Sapato, assistir a um vídeo ou mesmo reconhecer algumas das imagens em anúncios publicitários e matérias em revistas. Mas é o Flickr200 o ambiente “original” deste projeto que exercita ampla-
199 ARAUJO; CRUZ, 2011.
200 Já definimos o Flickr no capítulo 2. Para conhecer o Flickr do Caixa de Sapato, acesse: http://
mente a quebra de fronteiras – não apenas entre os âmbitos público e privado, mas também entre áreas que vão da documentação à publicidade e mercado de arte. Observando o material no Flickr, não se percebe uma regra em relação à regularidade de publicação de novas imagens. Pode passar mais ou menos tempo de intervalo entre uma fotografia e outra, mas o álbum foi abastecido continuamente. As fotografias não receberam nenhum tipo de legenda ou identificação sobre as pessoas e situações retratadas, apenas uma numeração crescente. Chegou a acumular mais de 400 fotografias. A primeira postagem foi de maio de 2008, embora algumas tenham sido produzidas anteriormente.
Quando assistimos ao vídeo201, somos levados por uma narrativa – sequência, tempo, música – que não é a mesma do Flickr. Neste último, podemos ver da mais recente até as mais antigas (em data de publicação), mas também podemos seguir navegações aleatórias ou ligadas por tags em comum. Quando temos contato com séries de imagens, em vez de uma imagem única, novos significados são construídos através da associação desses vários registros. Mesmo que eles não tenham ligação entre si. Mas, sem que percebamos, somos levados a conectar situações, pessoas e construímos histórias que, embora tenham um fundo biográfico, real, registro de existências, podem tomar traços ficcionais nesses novos enredos. Assim como acontece nos arquivos familiares, não importam tanto os autores e muitas informações mais factuais se perdem ao longo do tempo, permanecendo os laços afetivos e as significações. Para Jaguaribe202, “através de diários, cartas, fotografias, www.flickr.com/photos/ciadefoto.
201 Vídeo produzido em parceria com o editor Alex Carvalho, com trilha sonora de Guab, para o MAM-SP, em outubro de 2008. Para ver o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=-dYnKUyoyg8
202 JAGUARIBE, Beatriz. Realismo sujo e experiência autobiográfica. In: FATORELLI, Antônio; BRUNO, Fernanda (Org.). Limiares da imagem: tecnologia e estética na cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006, p. 112.
vídeos e souvenires, sedimentamos as peças que compõem um enredo maior cujo final não podemos antever”. O trabalho da Cia traz uma experiência que passa pela própria externalização do ideário do coletivo fotográfico, em que as identidades individuais são diluídas em prol de um resultado plural, em que a afetividade é um importante ingrediente dessa aglutinação, em que a produção de conteúdo não se dá num espaço – geográfico e temporal –estanque. O coletivo vem quebrar algumas fronteiras do fazer fotográfico e essas questões estão presentes no Caixa de Sapato. Vida e trabalho estão juntos. Família, amizade e ambiente profissional se misturam. Permeados por objetivos em comum e laços afetivos. “O ponto claro de nossa pesquisa é a ausência de algo decisivo. É a formação de um espaço por uma duração e, o que queremos nesse trabalho, é confirmarmos uma construção de existência”203.
Um outro aspecto interessante como proposição do Caixa de Sapato diz respeito à autoria e formação de redes. Existe, em sua essência, a presença de uma criação coletiva por parte dos integrantes do grupo. Um projeto que já parte do princípio de colaboração na sua concepção, mas que estimula um desdobrar deste fazer coletivo através de apropriações por outros artistas e fotógrafos. A Cia de Foto o deixou aberto para que qualquer pessoa possa usar as imagens deste ensaio em outros trabalhos, num movimento que remete às construções simbólicas que são feitas por cada pessoa ao ver um álbum de família. A artista Elisa V. Randow, produziu refotografias – fotografou algumas das imagens do Caixa de Sapato através da tela do computador, dando novos cortes, imprimindo novas texturas, causando ressignificações. Ações como essa, mesmo não sendo uma invenção recente, são práticas comuns tanto na arte contemporânea – em que se fala da diluição do autor –, quanto na cultura de convergência, que é fortemente influenciada pelas possibilidades de
203 CIA DE FOTO. Processo de criação. In: Olhavê (site).
interação trazidas pelas novas tecnologias. Interessante perceber que esse projeto também tem uma importância de pesquisa interna. Além de tensionar angústias inerentes à relação ali estabelecida, é também espaço para experiências estéticas, como afirma Carol Lopes: “O ‘Caixa de Sapato’ é um veículo que usamos muito para experimentações… testar uma luz, um grão, um enquadramento, um tratamento diferente”204.
O Caixa de Sapato pode ser entendido como um laboratório, um ambiente onde se dá a experiência do fazer coletivo, permeado pelo afeto, em que o cotidiano é o principal ingrediente para a construção de significados, através de camadas de apropriações. Há aí uma produção de saber, que se dá em rede. Há uma escrita, que acontece não apenas pelos fotógrafos produtores das imagens, mas pelos que estão nelas, nos seus fazeres mais corriqueiros. O interesse que esse trabalho desperta no público não está na celebridade dos protagonistas – são pessoas comuns – nem no extraordinário dos acontecimentos – são eventos comuns. Está numa potência de vida que ele comporta.
3.5 Eleições
Um outro trabalho importante para dar corpo às questões trazidas pelo coletivo abordadas aqui é o “Eleições”, desenvolvido para o caderno especial do jornal Folha de S.Paulo durante a campanha eleitoral para a prefeitura paulista em 2008. O jornal convidou diversos fotógrafos para a produção de ensaios enfocando os três principais candidatos daquele pleito: Geraldo Alckmin, Marta Suplicy e Gilberto Kassab. Não havia uma pauta a ser seguida, o diário paulista dava liberdade aos convidados para o desenvolvimento do material. A Cia de Foto optou por cobrir
204 LOPES, Carol. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 22 de novembro de 2011.
situações comuns de campanha, como caminhadas ou visitas a mercados públicos, depois publicadas na forma de séries de três fotografias sobre cada candidato. A maneira escolhida pela Cia para desenvolvimento desses pequenos ensaios, no entanto, levantou algumas questões. Os três fotógrafos acompanhavam o candidato simultaneamente, captando imagens a partir de posicionamentos distintos. Os fotógrafos sincronizaram suas ações e montaram o ensaio sempre mostrando um determinado momento do candidato por três pontos de vista. É possível vermos nessas imagens até mesmo o posicionamento dos demais fotógrafos – não apenas do coletivo, mas também dos outros veículos de imprensa presentes no evento.
A ação envolvia uma complexidade muito maior nas camadas conceituais e de reflexão do que em termos de tecnologia e infraestrutura, embora o jornal não tenha perdido a oportunidade de destacar na legenda das imagens que os fotógrafos haviam utilizado um sistema de rádio para sincronizar os disparos, fato curioso, pois remonta à necessidade constante de relacionamento entre o investimento na tecnologia e a importância da ação, retomando a discussão entre fotografia e tecnologia. Ao incluir a atuação dos próprios fotógrafos e cinegrafistas de imprensa no campo da imagem, ficou aparente a prática recorrente neste tipo de cobertura em que, através de angulação e enquadramento, as imagens nos passam uma informação que não condiz com a real situação.
No tríptico enfocando a candidata Marta Suplicy, uma das imagens apresentava a cobertura mais usual, produzida pelos repórteres fotográficos presentes ao evento: a candidata numa caminhada rodeada de crianças e eleitores, com faixas, cartazes e bandeiras. Era muito semelhante ao que foi publicado pela imprensa em geral sobre esse evento. Em outra foto, no entanto, vemos que essa imagem é uma farsa uma vez que a “multidão” não passava de alguns poucos cabos eleitorais. Se um dos fotó-
grafos do coletivo estava posicionado como os demais representantes da imprensa, disputando um espaço perto da candidata, no centro dos acontecimentos, os demais, buscando ângulos mais distanciados ou mesmo antagônicos, captaram a cena em que era possível ver não apenas a atuação da candidata, como também dos assessores e da imprensa. A quantidade de fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas causa mais impacto que a de “eleitores”. É, num só instante, uma crítica aos políticos, aos jornais e aos fotógrafos, ao desbancar uma prática corrente da imprensa, quando o resultado estético e pré-formatado se sobrepõe à importância jornalística e ao conteúdo informativo.
O curador e pesquisador Alejandro Castellote, que em sua aula de encerramento do Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos citou este ensaio como uma das imagens mais inteligentes como proposta de uma nova produção fotográfica205 , nos fala de um afastamento, um passo atrás, para desmascarar os eventos coreografados pelos detentores do poder. Ele sugere uma revisão da célebre máxima de Robert Capa que dizia que “se sua fotografia não está suficientemente boa, você não está suficientemente próximo” do assunto206. Neste caso o distanciamento pode ser mais provocador. A Cia se utiliza de um espaço do jornal para mostrar uma prática diária de manipulação da informação tão comumente utilizada na imprensa: o teatro, a encenação de um fato para uma cobertura real.
Também podemos observar nesta publicação uma outra característica da Cia de Foto, já citada anteriormente, porém ainda envolta em muita polêmica no meio fotojornalístico: a assinatura coletiva em todas as obras. Independentemente de quem estivesse participando de um projeto, eles assinavam sempre como coletivo, sem referência a nenhum nome de nenhum fotó-
205 CASTELLOTE, Alejandro. Palestra. Encontro de Coletivos Ibero-Americanos. São Paulo, 2008.
206 CASTELLOTE, 2009, p. 282.
grafo. “Ao negar a autoria individual da imagem, o grupo traz para seu processo de criação não apenas negociações referentes às questões técnicas e estéticas, mas também posturas políticas e sociais. O grupo faz desse procedimento um espelho das relações sociais”207. Interessante observar que isso acontece até mesmo quando um único integrante produz um trabalho em condições “isoladas”, fora do país. No entendimento mais tradicional da autoria fotográfica, num caso como esse, não haveria dúvida em afirmar que o autor seria aquele fotógrafo em viagem. Para a Cia, porém, mesmo não havendo uma atuação mais direta ao longo do desenvolvimento de um projeto, as discussões e críticas estão presentes, compõem a base sobre a qual é construída a obra e não haveria como dissociar o resultado dessa participação colaborativa. É mais “honesto”, nas palavras de Rafael: “pensamos muito antes, realizamos as ideias progressivamente e qualquer imagem que seja produzida por nós é resultado disso”. Uma forma diferente de lidar com a criação, na contracorrente de toda uma tradição fotográfica que concentra no momento de acionamento do obturador da câmera o ato constituidor de uma obra.
A assinatura compartilhada também nos remete a um outro plano, que é o da criação de uma marca, de um selo. No início do coletivo, era comum que os clientes se dirigissem diretamente a um dos fotógrafos, cujo trabalho já conheciam, muitas vezes querendo que a encomenda fosse atendida especificamente por aquele profissional. “Para driblar essas exigências […] a Cia foi impondo a assinatura coletiva, uma marca, um selo de garantia que atestava que o trabalho seria realizado da melhor maneira possível, independente de quem fotografasse”208. Quando nos debruçamos sobre a questão da autoria, percebemos que ela também se equipara à formação de uma marca, à construção de
207 BRANDÃO, Eduardo. Portfólio Cia de Foto. S/d.
208 KEHL, 2011.
uma entidade: o autor.
Se no meio fotojornalístico é possível perceber um certo desencontro de opiniões envolvendo o crédito coletivo, podemos arrolar outros fatos da recente história da Cia de Foto que ilustram a necessidade de adaptação dos meios legitimadores para o fazer coletivo. A Cia já teve um ensaio premiado no prestigiado concurso World Press Photo209, mas, se algum internauta for ao site da fundação homônima procurar tal trabalho, não bastará colocar o nome do coletivo no sistema de busca. Se fizer isso, nada encontrará. É que, em 2006, para participar do prêmio, eles precisaram fazer sua inscrição em nome de apenas um dos integrantes, no caso João Kehl.
Numa outra instância, uma coleção de fotografia vinculada a um museu, foi preciso que fossem revistas regras para que o coletivo paulista passasse a fazer parte do acervo. Estamos nos referindo a uma das principais coleções de fotografia do Brasil, a Coleção Pirelli-Masp, pertencente a um museu de arte, ambiente – o das artes – geralmente citado como onde a discussão sobre criação coletiva já estaria ultrapassada, não faria mais sentido. Pois a Cia de Foto foi convidada a integrar a importante coleção com a condição de explicitarem a autoria individual de cada fotografia que passaria a fazer parte do acervo. O grupo argumentou que a criação era coletiva, que não havia autores individuais. Tais argumentos não foram aceitos e eles esperaram alguns anos para fazer parte da coleção, só depois de uma revisão das diretrizes que definiam as condições de ingresso de novas obras, que passaram a considerar a possibilidade de criação compartilhada.
209 Premiação concedida anualmente pela World Press Photo Foundation desde 1955, é um dos principais prêmios do fotojornalismo mundial, dividido em diversas categorias. Atua, ao mesmo tempo, no reconhecimento e no agendamento de coberturas relevantes, recebendo, numa única edição, mais de 100 mil fotografias, inscritas por cerca 6 mil fotógrafos de 125 países (SILVA JUNIOR, José Afonso. Duas ou Três Observações Sobre o World Press Photo. XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2011b.).
A Cia teve seu momento quando “acontecia” de uma maneira mais ligada ao clique, quando era na captação que eles concentravam sua criação. E ali experimentaram compartilhar o fotografar, sair para a rua e fazer coberturas juntos. Depois partiram para pesquisas no tratamento e pós-produção. Ampliaram a experiência para a fase posterior à captação. Num ato contínuo – ou em paralelo – intensificaram a pesquisa teórica e a reflexão, algo que permeia todo o processo, do planejamento à apresentação. Uma trajetória que nos remete, em certo sentido, à experiência dos Becher, onde a intensa integração em diversas fases de construção de seu trabalho confundia e tirava o sentido de se pensar como uma autoria individual, mesmo que em muitos casos, por limites orçamentários ou de outra natureza, apenas Bernd tenha viajado e feito a captação das imagens. Estender o entendimento do fazer fotográfico para muito antes e muito depois do clique e perceber a importância de tais etapas e as possibilidades de compartilhamentos e crescimentos nessas fases, é uma das características dos coletivos.
Observando a atuação do coletivo nos encontros de fotografia, debates, publicações e blogs, ou simplesmente ouvindo seus integrantes, é possível perceber como a pesquisa teórica e conceitual teve cada vez mais importância na dinâmica da Cia de Foto. Muitas vezes chamando para uma discussão em torno da assinatura coletiva ou sobre aspectos mais objetivos do processo de produção – até mesmo focando a questão do tratamento de imagem, de técnicas utilizadas – o coletivo aproveitou essas oportunidades para discutir questões da fotografia que passavam por dúvidas ou crises internas. Se aceitarmos a ideia de que se operou um desenvolvimento do formato “coletivo”, que não foi algo premeditado nem simplesmente a reprodução de uma fórmula externa, mas uma influência mútua e um envolvimento com as possibilidades que esse compartilhar apresentava, per-
cebemos um movimento de intensificação das características já enunciadas. A reflexão acompanhou essa trajetória. Em muitos momentos eles foram colocados contra a parede, precisando defender suas escolhas perante públicos nem sempre comedidos. João Kehl afirma que, por conta da forte crítica recebida pelo coletivo, houve uma necessidade de “olhar com mais atenção e cuidado” para o que estavam fazendo e os “obrigou a construir argumentos fortes para defender [essa] postura”210. Claudia Paim, ao tratar de coletivos artísticos, destaca o papel da argumentação nesses grupos:
quando se atua em um coletivo, é necessário transformar as ideias em verbo, pela fala os participantes interagem. Discutir os objetivos, as maneiras de fazer, ajustar os alvos, eleger táticas, experimentar: o realizar é apenas o aspecto final de uma longa tessitura de relações. Nessas trocas, além das ideias, o próprio tempo é compartilhado. Tempo despendido em conjunto. Tempo longo pela necessidade da conversa, pela superação do choque entre diferentes, pelo que o confronto exige de cada um211.
Numa espécie de ciclo virtuoso, quanto mais participavam de debates, mais chances tinham de testar e exercitar suas referências, suas reflexões acerca da fotografia e do atuar coletivamente na fotografia. Segundo Pio, “as principais fontes de informação são as pesquisas em universidades, filmes e trabalhos de arte contemporânea. É muito difícil acessar trabalhos nas universidades. Exige uma busca diária”. Carol complementa:
Muitas vezes motivados por algum texto as ideias acabam surgindo. Vemos muita fotografia, filmes, revistas e exposições. Temos uma ampla biblioteca com livros de fotógrafos e teóricos que também é um lugar que sempre
210 KEHL, 2011.
211 PAIM, 2012, p. 51.
recorremos. Normalmente o processo se dá por alguma inquietação de alguém do grupo. Surgem as primeiras imagens, começamos a pensar, lemos, discutimos. Trazemos textos, escrevemos. O nosso ambiente de trabalho também colabora muito para essa interação de ideias. Trabalhamos todos juntos numa mesma sala super ampla. Com isso a troca de ideias acaba sendo constante212.
Essa opinião também é compartilhada por João Kehl, que ilustra o sentimento de um ambiente propício à criação da seguinte forma:
O ambiente de trabalho da Cia de Foto é muito dinâmico. Isso quer dizer que a todo instante, existem ideias e assuntos sendo discutidos. Costumamos falar que as ideias na Cia estão sempre vivas, meio que suspensas numa nuvem e são colocadas em prática quando se encaixam dentro de algum tema ou trabalho que começamos a desenvolver. Muitas vezes, uma ideia aparece meio sem lugar ou tempo definido e fica pairando nessa nuvem e só vai encontrar seu lugar quando colocada em acordo ou oposição com uma nova ideia213
Já havia lá antes do início formal da Cia vontades e afinidades “intuídas” por seus futuros fundadores. Tais intuições encontraram reverberações através das ligações com outros pontos que formariam esse rizoma chamado coletivo. Na medida em que as ideias reverberavam, encontravam eco noutros atores, foram sendo consolidadas e ampliadas. Um processo que se constrói no seu próprio desenvolvimento, tomando partido das possibilidades de articulações, mas que precisam de um elemento ligante, uma espécie de cola ou ligamento, composto por ingredientes que vão além do objetivo formal, mas que passam pela subjetividade de uma relação
212 LOPES, 2011.
213 KEHL, 2011.
de afetividade. Daí que essas construções não sejam feitas de uma hora para outra, mas seguindo o tempo mesmo de decantação necessário ao surgimento de um relacionamento mais bem afinado. Muitos colaboradores, funcionários e parceiros passaram pela Cia. Alguns continuaram como colaboradores ou simplesmente fãs do grupo, mesmo quando deixaram de participar formalmente.
3.6 Valparaíso
No final de 2013, a Cia de Foto anunciou o fim de suas atividades. Uma construção de 10 anos se coloca um ponto final. As motivações não pareciam ser externas, nem se tratava de alguma crise de mercado. A Cia estava num momento de muita atividade, com diversos projetos em andamento, uma agenda carregada de workshops, participação em eventos, livros sendo editados, crescimento da pesquisa teórica, enfim, vivendo os desdobramentos das ações que haviam empreendido, contabilizando o retorno do investimento simbólico desses anos de atuação e amadurecimento coletivo.
O último trabalho como Cia foi desenvolvido na cidade deValparaíso, no Chile. Sua publicação acontece ao mesmo tempo da notícia do término do grupo. Nele, as imagens são o resultado da sobreposição dos fotogramas de vídeos com duração de um segundo. Um segundo, ou 24 imagens condensadas. “Espessas, pois cada imagem contrai fisicamente seu desenvolvimento e seu futuro, e não se valem da expectativa de se inserirem como imagens no tempo, mas são sobrepostas para serem únicas e assim se fazem, nessa única imagem, repletas”214. São imagens que se constroem pelo acúmulo,
214 FIGUEIROA, Pio. “Não outra cidade, outro mundo” - Valparaíso: paisagem histórica viva em fotografias. In Ícone. V. 15 n.2. Recife: PPGCOM/UFPE, 2014, p. 7.
mas não numa série, como num ensaio, ou na sequência do cinema, cuja persistência em nossa retina engana uma sensação de movimento. É uma imagem em que certos detalhes são embaçados, pela própria ação da sobreposição, enquanto outras visualidades surgem ricamente. Abre mão da quantidade, arrisca um resultado que pode confundir o leitor, assume o borrado e o indefinido do movimento outrora congelado, age na expansão das dimensões fotográficas, explode o instante, uma imagem feita de muitas.
A Cia de Foto foi essa sobreposição, um autor fotógrafo que se fez de vários, que borrou alguns contornos individuais na aposta por uma equação mais interessante em que o resultado foi muito além da soma direta. Uma justaposição que inseriu novas dimensões na fotografia que faziam. Uma trajetória curta se olharmos para a potência de debates que seus trabalhos mais recentes apontavam, pois a atuação deles era fruto do tensionamento dos limites da fotografia no seu próprio processo, propunham discussões em desenvolvimento, não respostas acabadas. Como Pio Figueiroa afirma em uma entrevista posterior ao fim da Cia, “nosso trabalho sempre foi exposto em plena discussão interna. Nunca houve um consenso e, sim, disposição para pesquisa em torno da linguagem fotográfica”215 . Esta mesma entrevista revela uma clave processual que desloca o ponto de inflexão fotográfica da captação para a reflexão, praticada mais intensamente na edição e pós-produção, na geração de sentidos:
Quase sempre a produção imediata do coletivo era afastada dos sentidos que as imagens ganhavam posteriormente, quando se transformavam em um trabalho. Havia dois passos em nossa produção: o primeiro, contínuo, o de gerar imagens. Vendo já numa perspectiva do tempo, tínhamos como uma performance atlética, uma produção estrondosa
215 FIGUEIROA, Pio. Pio Figueiroa fala à ZUM sobre o coletivo Cia de Foto e o ensaio Passe Livre In Revista Zum (Site). N 5. 2014b.
que misturava o gesto fotográfico amador (no sentido pleno da palavra, de quem ama) com as demandas profissionais de responder a um mercado e sobreviver dele. O segundo passo, em uma temporalidade mais racional e reflexiva, era o de rearranjar essas imagens em torno de um conceito estético que chamávamos de “ensaio”. Nesta parte de nosso processo, olhávamos para o acervo como predadores de sentidos, esgaçando o que ali teimava em permanecer como intenção inicial. Violentávamos, quase todas as vezes, a camada da performance que nos fazia fotógrafos de campo e trazíamos à tona a expressão artística de editores, desses que criam sentidos reais a uma superfície imagética adormecida nos arranjos pictóricos padronizados216.
A Cia de Foto acabou. Deixou um grande e importante acervo, destacado na produção da fotografia contemporânea brasileira, mas, mais que isso, esticou o fio que atravessa a fotografia, contribuiu fortemente para um diálogo que amplia as possibilidades de enxergar essa linguagem. Não apenas pelo viés estético, pelas imagens e suas fronteiras como linguagem, mas pelo fazer coletivo, por assinar conjuntamente, por discutir também esses outros limites. Por que um grupo termina num momento profícuo, bem reconhecido nos mercados onde atuava, em meio a projetos em andamento, a convites para novos projetos, quando pesquisas ainda em desenvolvimento apontam para novas e instigantes possibilidades? Para Claudia Paim, a dissolução dos coletivos é algo quase que natural pelas características de transitoriedade e de transformações próprias desses grupos: “eles obedecem à lógica da mobilidade, da contingência de sua época e de suas sociedades”217
Os coletivos fotográficos, como dissemos, precisaram se opor a comportamentos estabelecidos, trabalham na criação de
216 FIGUEIROA, 2014b.
217 PAIM, 2012, p. 20.
novos contornos através do esgarçamento de algumas fronteiras. Se faz pelas ligações, necessitam delas e respondem a elas. Há uma força que move tais transformações. Alguns poderiam buscar no esvaecimento dessa força, no enfraquecimento dos laços e instigações, o motivo para o fim de um grupo. Mas, por outro lado, essa mesma força, na sua plenitude, pode instaurar novas demandas, novas necessidades, novas crises que, naturalmente, estabeleçam linhas de fuga perfeitamente compreensíveis num rizoma, mas que sejam conflitivas nos modelos de mercado e de vida cotidiana. “Hoje em dia as pessoas assumem atividades mais específicas e era isso que fazia um coletivo tão múltiplo. Nos deu agora a vontade de se desvencilhar do ritmo comum. Tocar a vida em tempos distintos, pensar para fora do coletivo”218 .
3.7 Colectivo pero no siempre
O coletivo espanhol Pandora escolheu uma outra maneira de lidar com a dinâmica de projetos pessoais e coletivos. Eles se definem como um coletivo de fotógrafos documentaristas que, em 2007, resolveram unir seus olhares para mostrar aspectos distintos do mundo contemporâneo. Combinam trabalhos individuais com coletivos, tanto em fotografia quanto em vídeo. É formado por cinco fotógrafos: Sergi Cámara, Tatiana Donoso, Héctor Mediavilla, Fernando Moleres e Alfonso Moral. A sua forma de organização difere do exemplo anterior, principalmente por um aspecto. Vejamos, primeiro, as semelhanças. Também surgiram com a aproximação de dois fotógrafos que começaram – em 2005 – a conversar sobre a necessidade de união para a produção de projetos em comum. Eles eram Sergi Cámara e Héctor Mediavilla. Dois anos depois, Pandora é fundado com mais dois fotógrafos – Fernando e
218 FIGUEIROA, 2014, p. 11.
Alfonso. Tatiana entra para o grupo posteriormente e atualmente se dedica a questões mais relacionadas à curadoria.
Não existe um organograma fechado, estático: estão sempre repensando a organização interna. Héctor Mediavilla cuida da gestão financeira, mas as demais funções são divididas de acordo com a necessidade e com a disponibilidade de cada integrante no momento. Da mesma forma, as demandas de cada trabalho vão sendo definidas de acordo com as circunstâncias pessoais e socioeconômicas. Agora chegamos num diferencial importante de ser destacado: os projetos coletivos acontecem apenas no que eles chamam de âmbito cultural, ou seja, exposições, festivais, oficinas. No dia a dia, cada fotógrafo desenvolve seus trabalhos individuais, atende ao mercado, segue uma “carreira solo”. Muitas vezes assinam coletivamente, mas apenas nos projetos que foram desenvolvidos pelo Pandora, aqueles mais ligados a exposições e outras demandas não comerciais219.
Interessante perceber que houve um desenvolvimento mesmo no nome da atividade desse grupo. Héctor Mediavilla nos explica que “os nomes sempre se confundem. Inicialmente pensamos que era mais apropriado chamarmos agência. Agora nos chamamos coletivo, pois pensamos que está mais de acordo com nossa atividade”220.
Assim como no aspecto organizacional, o processo criativo também é compartilhado apenas em alguns projetos, em geral os assinados coletivamente. Os membros seguem suas referências pessoais para os projetos individuais. Seja por uma demanda externa, como um convite para uma exposição ou para o desen-
219 Aqui usamos uma distinção presente na própria apresentação do coletivo: “trabalhos de cunho cultural”. Entendemos que exposições também estão inseridas num mercado e, portanto, seguem preceitos comerciais, mas há uma distinção no mercado que considera como comercial as encomendas do meio editorial e publicitário, porém artístico ou cultural as demandas ligadas a exposições, cursos e livros.
220 MEDIAVILLA, Héctor. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 27 de novembro de 2011.
volvimento de um audiovisual, seja atendendo a instigações que surgem no grupo, eles se reúnem e discutem o desenvolvimento de um projeto, onde há debate e construção conjunta desde o planejamento até a exibição. Eles – tanto o Pandora quanto cada integrante – possuem em seus históricos alguns trabalhos desenvolvidos com outros coletivos ou profissionais.
Héctor Mediavilla, por exemplo, também acumula em seu currículo a participação em um projeto de documentação audiovisual chamado “Penélopes Mexicanas”. Neste caso, se associou à escritora mexicana Yesenia García para abordar uma face pouco tratada quando se fala em imigração: o lado de quem espera aquele que atravessou a fronteira. No site do projeto 221, podemos encontrar um vasto material audiovisual composto por entrevistas, ensaios e histórias de vida, material que se confunde na forma e na abordagem a muitos outros projetos ancorados no Pandora. Assim como o mesmo Mediavilla também faz parte de uma agência, a Picturetank, que funciona nos moldes de uma produtora-banco de imagens, representando dezenas de autores, entre eles, outros coletivos. Não há nenhuma contradição nisso, uma vez que o coletivo existe apenas nos trabalhos “autorais”.
Tal diferenciação fica clara quando observamos o currículo de cada integrante, acompanhamos o desdobramento de alguns trabalhos editoriais ou mesmo observamos como o grupo lida com determinadas situações. O site do Pandora possui um link para a venda de fotos. Na página específica, temos instruções para o pedido de cópias ampliadas em tamanho 20x30cm. Caso o interesse seja por cópias com dimensões maiores, o contato deve ser feito diretamente com os autores. Eles afirmam que os rendimentos dos projetos coletivos são revertidos para o Pandora. No caso da venda de cópias, há um padrão para que deter-
221 http://www.penelopesmexicanas.org.
minado volume de vendas aconteça pelo grupo (as ampliações no tamanho citado) enquanto as que fogem desse padrão seguem num relacionamento individualizado.
O tratamento diferenciado entre o que eles chamam de ação cultural e trabalhos comerciais também fica patente quando observamos o portfólio do coletivo. Todos os trabalhos apresentados no espaço dedicado a exposições são creditados unicamente como Pandora, enquanto que, quando falamos de reportagens, a grande maioria aparece com o crédito dos fotógrafos. Num total de 46 trabalhos de reportagem apresentados, apenas quatro possuem o crédito do Pandora, sendo dois deles produzidos em colaboração com outros dois coletivos (Cia de Foto e Mondaphoto, já citados).
Assim como nos outros níveis de relacionamento da contemporaneidade, temos uma flexibilidade maior das relações e é interessante perceber que o Pandora se ajustou ao modelo coletivo naquilo – ou naquele momento – em que ele pode agregar ou aproveitar potencialidades, sem que haja um endurecimento da organização. Um fotógrafo fazer parte de vários grupos, ser representado por diversas agências ou galerias diferentes, misturar trabalhos ou alternar parceiros, isso tudo não é novidade. Não é disso que estamos falando. Mas sim como o modelo coletivo pode ser acionado também como apenas um dos nós dessa grande rede de articulação que cada indivíduo tece nos mais variados âmbitos.
O Pandora funciona segundo os preceitos aqui estudados em relacionamento aos coletivos fotográficos contemporâneos, mas seus integrantes não seguem apenas essas diretrizes. É um coletivo integral, completo, porém participa parcialmente da vida de seus fotógrafos. Condição que reforça a ideia de uma formação que existe em si mesma, que se forma no ato em si e não por algum condicionamento prévio. Diferentemente, bom frisar,
de um projeto pontual, uma ação de um grupo criado em torno de uma experiência específica, que se desfaz depois de sua execução ou existência. Aqui estamos falando de um agrupamento perene, regular, formado por diversos profissionais, assim como na Cia de Foto já analisada, mas que se configura como mais um nó na grande rede formada por tais pessoas.
Um estudo de caso não se presta a generalizações estatísticas. Não devemos buscar repetições, frequências apenas. Mas é uma estratégia indicada para se investigar “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”222. Nosso foco de interesse está nas evidências qualitativas, na forma como os fenômenos se desenvolvem. Embora seja possível observar diversos pontos de contato com o coletivo Cia de Foto, a abordagem do Pandora não tem como objetivo reforçar, referenciar ou confirmar aspectos analisados no grupo brasileiro. A importância de sua inclusão no estudo se dá por um ponto que dialoga diretamente com algumas das características observadas no modelo que ora delimitamos, em articulação com preceitos que passam por uma flexibilização das estruturas de organização e produção. Aqui nós podemos perceber um tensionamento de tempo, de permanência. O Pandora é um coletivo contemporâneo: traz vários daqueles aspectos analisados. Mas ele só existe quando tais fatores se congregam. Quando os pontos se ligam: aí temos o coletivo.
3.8 Garapa
O grupo paulista Garapa experimentou várias definições desde sua criação em 2008, embora a formação não tenha
222 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005, p.32.
passado por maiores alterações. Resultado de uma constante crítica interna, a reflexão sobre o que fazem e o que são é um componente fundamental nesse modelo. É um reflexo natural pelo amadurecimento tanto do grupo como das discussões em torno da atividade, como transparece em uma entrevista de 2013, quando comentam que:
desde o nascimento da Garapa, já paramos algumas vezes pra reescrever essa definição, e essas mudanças no fim refletem o nosso próprio processo de criação. A conclusão mais recente é a de que somos um espaço de criação coletiva, dedicado a pensar e produzir narrativas visuais, integrando múltiplos formatos e imagens, pensando a imagem e a linguagem documental como campos híbridos de atuação. Até quando ela vai durar não temos como dizer223
Formada pelos jornalistas e fotógrafos Leo Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo Marcondes, o Garapa busca ser uma estrutura independente de produção, se dedicando ao documentalismo, mas não se fecha num só formato ou suporte, desenvolvendo projetos em fotografia, vídeo, publicações ou instalações. Começaram num momento de grande efervescência dos coletivos, no mesmo ano em que aconteceu o primeiro encontro de coletivos, do qual participaram na cobertura e documentação. Ao contrário do Pandora, que também viveu uma transição no modo como se definiam, passando de agência a coletivo, o Garapa já surge com a consciência – e mesmo a busca – pelo modelo colaborativo, com um discurso e uma defesa estruturados. Num dos comentários no post do blog Trama Fotográfica sobre o encontro de coletivos, Leo Caobelli comenta sobre a formação:
Encontrei em outros dois amigos e colegas de profissão, além desse ambiente de cumplicidade, uma visão com-
223 GARAPA. Narrativas Digitais, uma entrevista com o Coletivo Garapa. In: 7 Fotografia (site). Setembro 2013.
plementar – quase como se conseguíssemos equilibrar o desequilíbrio, ou mesmo desequilibrar o equilíbrio. Como percebo que isso é raro, não sustento a hipótese de que coletivos sejam modelo ou moda, nem que – estabelecendo-se um – siga-se o modelo proposto por nós224
Em outro ponto da mesma discussão, reforça o aspecto crítico, destacando o compromisso implícito nesse modelo. Existe uma responsabilidade em assinar coletivamente, a de responder primeiro internamente, de ter que satisfazer não apenas suas expectativas, mas também a de outras pessoas. Ele afirma que
uma das coisas em coletivo que me agrada muito, o quase excesso de criticismo, já que a autocrítica é muitas vezes falha ou capenga. Saber que para cada trabalho lançado tenho que alcançar a provação das pessoas que assinam aquilo comigo é saber que preciso desenvolver meu trabalho técnico, minha argumentação, minha fundamentação e, acima de tudo, saber repartir225.
O primeiro projeto “importante” da Garapa foi o “Morar”. A ideia inicial era fotografar os resíduos de memória presentes num edifício desocupado do centro de São Paulo, o São Vito. Ao chegarem lá, se interessaram pelo prédio vizinho, o Mercúcio, que estava passando naquele momento pelo processo de desocupação, com muitas famílias ainda residindo no local. A formação em jornalismo influenciou numa visão inicialmente mais voltada à denúncia, à busca pelo debate atravessado por questões sociais, com expectativas de transformação da realidade dessas pessoas envolvidas. Entraram no prédio, fizeram contato com algumas famílias e formaram laços mais fortes do que pensavam que aconteceria. Captaram não somente fotografias, mas também vídeos e sons, incluindo depoimentos. O material circulou várias cidades
224 CAOBELLI, Leo. Encontro de Coletivos. In: Trama Fotográfica (site). Dezembro de 2008.
225 CAOBELLI, 2008.
do mundo no formato de exposição, inclusive no “Laberinto de Miradas”, projeto já citado com curadoria de Claudi Carreras que promoveu exposições em diversos países latino-americanos e um livro homônimo. Embora tenha sido o formato de maior circulação, essa ideia de ensaio fotográfico, o uso das ferramentas digitais e o aproveitamento das oportunidades e ambientes que a internet proporciona são características marcantes na atuação da Garapa, de modo que Morar também foi editado em vídeo, mesclando fotografia, vídeo e sons, projetado em determinados espaços e eventos, mas, principalmente, tendo uma grande circulação através da rede.
Três anos depois, em 2011, eles retomam o Morar. Apesar de todo o debate que aconteceu em torno da desocupação do Edifício Mercúrio, incluindo a participação de associações e outros grupos políticos, o rumo daquelas famílias não foi alterado e o prédio foi demolido para dar lugar a novos projetos para o bairro. Dessa vez a Garapa propõe um “arco de memória entre a existência e a desaparição” dos edifícios. O projeto ressurge com algumas questões que vão além do assunto documentado. O coletivo abandona a visão de transformar o futuro dos moradores para buscar relações com o passado daquele espaço. Não deixam de lançar debates sobre a cidade, sobre as questões de moradia e dos projetos de urbanização das grandes capitais, mas fazem isso por uma perspectiva da memória e de outras articulações de discurso. Se na primeira fase já podemos perceber a exploração de diferentes mídias e espaços, a segunda etapa avança por intervenções, apropriações de arquivos pessoais, uso de mapeamento e de imagens de terceiros, fazendo crescer os fios de uma teia discursiva mais complexa.
Um outro aspecto que merece ser destacado é a maneira de financiamento. Buscaram o crowdfunding, amparando seu projeto na plataforma Catarse. Essa alternativa de viabilização
possui muitos pontos de contato com a lógica dos coletivos. Há uma certa coerência nisso. Claro, o sistema de financiamento “por multidão” se presta para qualquer tipo de projeto, dos mais comerciais aos mais alternativos, mas existem alguns ingredientes em comum nesses dois modelos. Como afirma Paulo Fehlauer, em entrevista ao coletivo 7 Fotografia, “o que o crowdfunding faz é criar uma comunidade em torno de um projeto que essas pessoas julgam importante [...]. Acho que a principal característica do crowdfunding é a relação que se cria entre quem está produzindo e quem está apoiando226”. Com o sucesso da captação de recursos, que contou com colaborações que variaram entre R$ 25 e R$ 3 mil, a Garapa se viu na responsabilidade de responder à expectativa não somente dos integrantes como também dos 95 novos parceiros que apostaram na ideia. O trabalho se torna público e ganha as ruas antes mesmo de sua efetivação. Por mais que a participação desses apoiadores possa ser muito distante e restrita ao valor pago – que pode não ultrapassar o valor que pagaria pela publicação final pelos meios mais tradicionais –, esse formato de trabalho abre para outras demandas. A Garapa formou um site onde atualizava o andamento das ações, incluindo os gastos, uma espécie de prestação de contas e abertura do processo criativo. No site do projeto é possível ver não apenas as ações do grupo, mas também matérias relacionadas à temática, imagens de satélite acompanhando as modificações do bairro cenário de tais transformações urbanísticas e vídeos, entre outros materiais. Quase como um diário de notas, um registro do campo, do andamento e desenvolvimento do projeto, que se faz também pelo acúmulo e que deixa diversas possibilidades de ligações pelos leitores. Essa ideia de relato de experiência, como a documentação de um percurso, de uma jornada exploratória é o fio que alinhava um outro projeto. A Margem é uma “documentação afetiva” do rio
226 FEHLAUER, Paulo. Diálogo 17 – Garapa e o Coletivo Morar. In: 7 Fotografia (site). Junho de 2011.
Tietê, em São Paulo. Envolve experimentos multimídia mesclando relatos de expedições de viajantes dos séculos XVII e XIX pelo rio com fotografias – atuais e de arquivos variados –, cartografias e vídeos. Há uma experimentação que envolve soluções do design do catálogo às montagens fotográficas, intensificando a abertura de leitura ou o tensionamento das narrativas possíveis.
Este trabalho dever ser enxergado no seu conjunto, mas, mesmo se olharmos mais isoladamente para as fotografias atuais, aquelas produzidas pelo coletivo sobre o rio, observamos a intenção de uma maior subjetividade: falam do rio, mostram o rio, visitam o rio, mas fazem isso sem perder de vista os espaços, deixados propositalmente para o preenchimento por parte dos leitores. Quando tais imagens dividem as paredes, as instalações ou mesmo a publicação resultante do projeto com fotografias buscadas em arquivos institucionais, recortes de jornais, relatos de viajantes, tudo isso ganha novas dimensões discursivas, algo que é defendido como entre os principais objetivos do grupo. Se deixaram conduzir por vertigens e espantos em paralelo a mapas e descrições, numa costura entre informações científicas, geográficas, objetivas e erros humanos, acasos, desvios.
Travestidos de pseudo-cientistas, artistas-viajantes, lançamos mão de uma série de experimentos e interpretações sensoriais em busca de conexões simbólicas: uma escala cromática tenta organizar as diferentes tonalidades da água ao longo do rio, gráficos e mapas localizam, sem obrigação de precisão, cachoeiras existentes e extintas, erros de percurso, momentos de espanto227 .
Do primeiro “Morar” até “A margem”, houve um desenvolvimento que se distancia cada vez mais da busca pela objetividade, característica defendida pelo fotojornalismo clássico. Essa mudança de foco já é percebida na segunda fase do Morar,
227 GARAPA. A margem. In: A margem (catálogo de exposição). 2011.
na qual as apropriações e articulações de linguagens distintas se tornam mais aprofundadas e são intensificadas nos projetos posteriores. Para Paulo Fehlauer, isso é fruto de um amadurecimento e um trabalho agiu nesta mudança de percepção:
Mulheres Centrais não tinha uma denúncia, não tinha um foco jornalístico, foi um recorte que a gente decidiu fazer sobre o cotidiano da vida de dez mulheres. Isso acaba contaminando um pouco a visão do Morar porque muda a forma como a gente vai ver essa relação com as outras pessoas. É um amadurecimento de como a gente vê, inclusive, o papel da fotografia e do documentarismo. É talvez uma busca maior da subjetividade no trabalho documental228 .
A experiência da Garapa trabalha uma busca por rever formatos que incluem desde a exploração da imagem, a maneira de contar histórias, o jeito como se organizam e viabilizam tais projetos.
A ideia de trabalhar em coletivo vem um pouco de sair da estrutura vertical de uma redação e tentar trabalhar de uma forma mais horizontal – e colocar boa parte do nosso material em creative commons vem de uma percepção de que espalhar o nosso trabalho da melhor forma e o máximo que a gente puder é muito mais lucrativo, inclusive financeiramente, do que querer segurar e falar que ninguém nunca pode usar uma foto que eu fiz229
Leo Caobelli reforça esta ideia, afirmando que uma das grandes virtudes do grupo é a constância em se repensar, de habitar um lugar que não é somente arte ou exclusivamente documental, que está entre a fotografia e outras linguagens: “esse entre campo já foi sofrível, a coisa de não conseguir se definir gera uma certa angústia, não saber ao certo qual terreno
228 FEHLAUER, 2011.
229 FEHLAUER, 2011.
habitar. Depois aprendemos a controlar as inseguranças e deixar o barco navegar”230. Trabalham com projetos multimídia, procurando tensionar práticas narrativas com fotografia, onde a captação de imagens se confunde com a coleta e apropriação de arquivos históricos e institucionais. Possuem uma forte articulação através das redes sociais e de ferramentas não apenas de difusão e veiculação de suas produções como também de financiamento. Compartilham suas obras muitas vezes com direitos abertos, numa lógica de que a criação e ampliação das redes e o bom aproveitamento da multiplicação de contatos podem ser mais interessantes do que um modo centralizado e controlado de relacionamento com o mercado.
230 CAOBELLI, 2015.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Olhar se tornava um divertimento, um espetáculo; não o olhar uma coisa ou outra: o olhar.
Italo Calvino
A Cia de Foto, o Pandora e a Garapa trazem diversas contribuições para conhecermos um pouco mais as possibilidades da organização em coletivos. São três exemplos dentro de um universo amplo e que cresce a cada dia, envolvendo muitas outras iniciativas. Formar um coletivo fotográfico contemporâneo, na maneira como estamos usando o termo aqui, é mais do que agrupar um certo número de fotógrafos em torno de um objetivo ou de uma estrutura em comum. Em geral esse é o primeiro passo, mas não é suficiente. Os agrupamentos em que as individualidades são mantidas de maneira estanque, sem uma maior porosidade entre os sujeitos criadores, isso não combina com o modelo aqui trabalhado.
Também não é garantia de que terão bons resultados fotográficos. Muitos fatores podem dificultar a formação de grupos. Muitas pessoas podem ter uma queda de produtividade ao trabalhar em equipe. O processo criativo, a geração de debates e críticas internas, os diferentes ritmos e métodos de organização, tudo isso pode inviabilizar qualquer compartilhamento. Mas não apenas isso. Um grupo que tem um enorme entrosamento num período pode não funcionar depois de um tempo, seja por mudanças de objetivos, seja por novos desejos. Embora na teoria a ideia de inteligência coletiva, ou seja, o compartilhamento de pequenos conhecimentos na busca por soluções mais aprofundadas, possa parecer uma grande vantagem diante de criações
individuais, os desvios, os erros, os atrasos e os conflitos podem minar o processo. O resultado da conta deve ser diferente da soma das potencialidades individuais. Para mais ou para menos. Não há uma fórmula. O conjunto se dá no momento mesmo de sua junção. As linhas se constroem pelas ligações que formam.
E essas ligações podem acontecer agora, mas não darem certo no futuro. Ou podem acontecer com algumas pessoas e não com outras. O que o caracteriza está nessas ligações, na forma como elas acontecem e não num resultado como obra.
Não podemos defender alguma conclusão que aponte na direção de uma especificidade formal na obra realizada por um coletivo. A distinção não está na fotografia-imagem-impressão-objeto, porém na fotografia-linguagem-aparelho – aqui pensado conforme Flusser, a “engrenagem” do fotográfico e não num sentido mais restrito, da câmera, da máquina. Embora possamos identificar facilmente alguns trabalhos de um coletivo pelo resultado estético, por alguma paleta de cor característica do grupo, não poderíamos afirmar que um fotógrafo individual não pudesse alcançar aquele mesmo resultado visual. Mas determinadas tensões provocadas pelo fazer coletivo, abordadas aqui nesta pesquisa, são resultado direto de sua atuação.
O coletivo se diferencia de modelos como o da agência fotográfica ou o do fotoclube. Essas experiências precedentes contêm elementos de compartilhamento ou de colaboração em seus processos, em sua formação, mas são limitados a determinadas etapas ou funções. Ora temos um compartilhamento de estrutura física ou comercial – como nas agências –, ora isso acontece no campo da troca de conhecimento e experiências – como nos fotoclubes. Um fotógrafo autônomo também pode se valer de outros atores na sua cadeia produtiva, sejam fornecedores, sejam funcionários ou prestadores de serviço, mas tais funções são complementares ou acessórias, não participam – ou não são reconhe-
cidas – como determinantes no processo.
Já nos coletivos, as individualidades são diluídas, há uma espécie de apagamento em função da criação de um ente formado pelo todo. Mas não um apagamento imposto. Não se trata da anulação ou diminuição, não estamos falando de uma submissão do indivíduo à estrutura ou à hierarquia, como acontece em outras práticas. Na verdade acontece uma perda do sentido de se falar em individualidades. O entrosamento naturalmente age nessa mudança, as trocas e influências são mútuas e alimentam uma obra tão comum a todos que não seria “honesto” concentrar o mérito somente em um ou outro sujeito. O coletivo é rizomático e suas ligações acontecem para dentro e para fora. A tentativa de desenhar um diagrama pode não ser a mais frutífera: precisaríamos de estruturas com mais dimensões do que o papel nos permite, incluindo dimensões temporais e subjetivas, possibilidades de novos desenhos ou de linhas que se rompem em novas direções. Embora fotográficos, estão abertos à participação de outros profissionais, seguem o princípio da heterogeneidade. Operam na multiplicidade, abrem-se a possibilidades, não estão fechados numa estrutura rígida. Características que se articulam diretamente com conceitos como inteligência coletiva. “O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem ramificada”231.
Nem todos os grupos que se denominam coletivos estão abarcados nas delimitações que surgiram com esta pesquisa. Assim como muitos coletivos na essência são apresentados sob a denominação de agência, como foi o caso do Pandora, que por muito tempo se denominou agência e depois passou a ser coletivo.
Quando partimos para uma pesquisa que visa entender melhor um fenômeno, podemos levar em conta categorias
231 DELEUZE; GUATTARI, 1995, pág. 25.
empiricamente estabelecidas, mas é preciso buscar um distanciamento que nos permita observar regularidades, pontos de contato, repetições, padrões e diferenças nos casos analisados. Se na nossa introdução já assumíamos o desejo de não alimentarmos a ilusão de um esgotamento do tema é porque sabíamos da impossibilidade de tal façanha e acreditávamos na riqueza que as aberturas podem nos proporcionar.
Mas conseguimos reunir e articular uma série de aspectos que nos permite perceber o coletivo fotográfico contemporâneo como um fenômeno específico, distinto das demais experiências que agruparam fotógrafos ao longo da jovem história da fotografia. Assim como nos é possível afirmar que o seu surgimento acontece com maior ênfase na primeira década dos anos 2000, também por influência do cenário de convergência ou no paradigma pós-fotográfico. Um ambiente que potencializa a conexão em rede, a criação em conjunto, seja na forma de colaboração, no compartilhamento de conhecimento e formação de inteligências coletivas, seja na apropriação e ressignificação ou hibridismo. Um espaço potencializado pela digitalização e pela mediação por computador, que nos obriga a rever conceitos como o de autoria ou de indicialidade automática.
Os coletivos contemporâneos colocam questões através de seu comportamento, acionam novas funcionalidades no aparato fotográfico, reconfiguram o aparelho. Vilém Flusser usou a fotografia como paradigma filosófico: “a filosofia da fotografia pode vir a ser o ponto de partida para toda disciplina que tenha como objeto a vida do homem futuro”232. Entre outros conceitos, ele criticou a existência do funcionário, que é aquele que age em função do aparelho, que apenas realiza as possibilidades configuradas. Já o fotógrafo, “age em prol do esgotamento do programa e em prol da realização do universo fotográfico. […] O fotógrafo não
232 FLUSSER, 2002, p. 70.
trabalha com o aparelho, mas brinca com ele”233. O esgotamento do programa é o mais decisivo na relação com os aparelhos. Mais adiante, no final do livro, ele reforça essa ideia ao resumir assim o que seria o fotógrafo: “pessoa que procura inserir na imagem informações não previstas pelo aparelho fotográfico”234.
Os coletivos nos parecem jogar na direção da inscrição de novas programações no aparelho fotográfico, sua práxis tenta obrigar o aparelho a produzir imagens não programadas. Embora muitas de suas ações sejam conscientes e deliberadas, muitos dos desdobramentos alcançam questões além do inicialmente percebido ou planejado. Mas seriam essas funções realmente novas ou estariam elas também programadas no aparelho da fotografia? Seriam atualizações de um virtual já inscrito, possíveis apenas a partir de conjunções presentes na cultura de convergência?
A fotografia vem sofrendo pressões vindas de várias direções. São tensões provocadas por fenômenos como a liberação do polo emissor, a expansão da lógica de redes, a convergência, a potencialidade da inteligência coletiva, a revisão do estatuto de autor e mudança do comportamento dos consumidores de imagens, entre outros. Tais fenômenos não atingem apenas a fotografia, modificam a sociedade como um todo. Mas essas pressões causam uma espécie de transbordamento, como se apertássemos a fotografia por todos os lados e ela rompesse suas fronteiras, avançasse em novos espaços ou territórios. Um desses transbordamentos se dá na forma dos coletivos contemporâneos.
Quando o coletivo incorpora a discussão sobre o processo de criação, absorvendo a existência de vários sujeitos, criando alternativas de financiamento, assumindo a rotatividade e polivalência dos indivíduos na organização e produção, ele está, indire-
233 FLUSSER, 2002, p. 23.
234 FLUSSER, 2002, p. 77.
tamente, contribuindo para a porosidade já citada das fronteiras. Está caminhando junto – sendo influenciado e fortalecendo, contaminando e sendo contaminado pelo mesmo agente – daquilo que contribui para que o fotojornalismo saia das redações ou para que a fotografia documental assuma a contribuição mais subjetiva: há um relaxamento dos lugares de referência clássicos.
Um aspecto importante de ser considerado aqui é a presença de um viés autoral235 alinhavando apropriações estéticas nos trabalhos comerciais, discussões conceituais ou mesmo direcionamentos de projetos. Falando de outra maneira, há uma relação de redimensionamento envolvendo a autoria, mas, mais uma vez, numa via de mão dupla: a autoria coletiva também altera o processo e as decisões. O Pandora existe nos projetos “autorais”, essa é sua razão de ser. Obras “autorais” como o Caixa de Sapato, da Cia da Foto, são laboratórios para experiências estéticas posteriormente transpostas para trabalhos “comerciais”.
Acreditamos que esta obra avança sobre uma reorientação das práticas colaborativas na fotografia, nos modelos gregários de junção de fotógrafos. Um campo ainda pouco presente como objeto de reflexão na academia. Este livro pretende contribuir com a discussão sobre os coletivos, mas esses são apenas os passos iniciais nesta exploração. Que tais passos possam servir de apoio para novos avanços, construções ou redefinições no estudo sobre o universo do fotográfico, que possa contribuir para os caminhos de estudantes e fotógrafos, nessas novas possibilidades que os coletivos fotográficos contemporâneos colocam em pauta.
235 Termo controverso no campo da fotografia, “autoral” está ligado à maior contribuição dos anseios e escolhas do fotógrafo no seu trabalho, em oposição a encomendas e outras determinantes. Controverso por conta de que tais determinantes podem fazer parte de um trabalho dito autoral. A arte também é um mercado e sofre as influências das encomendas, dos prazos, das disponibilidades como já tratado no presente trabalho. Esse termo, no entanto é usado tanto para o trabalho mais independente – também confundido com “projetos pessoais” – como trabalhos que, mesmo inseridos em cadeias como o fotojornalismo ou a fotografia publicitária, trazem uma inserção maior das ideias e conceitos do fotógrafo.
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.
ALBARRÁN, Juan. Mise em scène: fotografía y escenificación em los albores de la modernidad. In Discursos Fotográficos v.6, n.9, p. 193-209, jul/dez 2010. Londrina: UEL, 2010.
ARAUJO, Camila Leite de; CRUZ, Nina Velasco. Transcendendo o cotidiano: uma análise das fotografias de família produzidas pela Cia de Fotos no Flickr. XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2011.
ASSOULINE, Pierre. Cartier-Bresson: o olhar do século. Porto Alegre: L&PM, 2008.
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos: la concepción de la fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004.
BAZIN, André. Ontologia da imagem fotográfica. (Traduzido de André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? vol. 1, Paris, Editions du Cerf, 1958). In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro : Edições Graal: Embrafilmes, 1983.
BENJAMIN, Walter. Pequena história da fotografia. In: Obras escolhidas – magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BRANDÃO, Eduardo. Palestra. Encontro de Coletivos Ibero-Americanos. São Paulo, 2008.
______. Portfólio Cia de Foto. S/d. Disponível em: <http://www.ciadefoto.com/ #1717081/Texts>. Acesso em: 2 nov. 2011.
CALLON, Michel. Por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do mercado. In: PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010.
CAOBELLI, Leo. Encontro de Coletivos. In: Trama Fotográfica (site). Disponível em:<http://tramafotografica.wordpress.com/2008/12/10/encontro-decoletivos/#comments>. Acesso em: 29 dez. 2014.
______. Entrevista concedida ao autor por e-mail. Em 26 de fevereiro de 2015.
CASTELLOTE, Alejandro. Palestra. Encontro de Coletivos Ibero-Americanos. São Paulo, 2008.
______. New times, new images. In: CARRERAS, Claudi (Org.). Labyrinth of views Barcelona: Editorial RM, 2009.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
______. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
CIA DE FOTO. Processo de criação. In: Olhavê. Disponível em: <http://www.olhave. com.br/blog/?p=3689>. Acesso em: 10 fev. 2011.
COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil São Paulo: Cosac Naify, 2004.
CRARY, Jonathan. Techniques of the observer. Cambridge: MIT Press, 1990.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol 1. Tradução de Aurélio Guerra Neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 1995.
DE MASI, Domenico. Criatividade e grupos criativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1994.
ELIAS, Érico. A hora e a vez dos coletivos fotográficos. Revista Fotografe Melhor, ano 13, edição 148, janeiro de 2009, p. 52-61.
ENTLER, Ronaldo. Um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea. In: A invenção de um mundo (catálogo de exposição). São Paulo: Itaú Cultural, 2009. Disponível em: <http://www.entler.com.br/textos/postura_ contemporanea.html>. Acesso em: 23 abr. 2013.
______.Coletivizando o coletivo. In: Icônica (site). 2010. Disponível em <http://www. iconica.com.br/?p=432>. Acesso em 16 de julho de 2010.
______. Os coletivos e o redimensionamento da autoria fotográfica. In: Studium, n.32. São Paulo: Unicamp, 2011.
FEHLAUER, Paulo. Diálogo 17 – Garapa e o Coletivo Morar. In: 7 Fotografia (site). Junho de 2011. Disponível em: <https://setefotografia.wordpress.com/2011/06/06/ dialogo-015-garapa-e-o-coletivo-morar/>. Acesso em: 14 jan. 2015.
FERNANDES JR, Rubens. As caixas de sapato e Pandora. Conferência no Paraty em Foco 5o. Festival Internacional de Fotografia Fnac, 2009. Disponível em: <http:// ciadefoto.com.br/blog/?p=1368&cpage=1#comment-1000>. Acesso em: 6 out. 2009.
______. O processo de criação como memória. In: Icônica (site), 2011. Disponível em: <http://www.iconica.com.br/?p=2115>. Acesso em: 5 jul. 2011.
FIGUEIROA, Pio. Entrevista concedida ao autor por e-mail. Em 8 de novembro de 2011.
______. “Não outra cidade, outro mundo” - Valparaíso: paisagem histórica viva em fotografias. In: Ícone. V. 15 n.2. Recife: PPGCOM/UFPE, 2014.
______. Pio Figueiroa fala à ZUM sobre o coletivo Cia de Foto e o ensaio Passe Livre. In: Revista Zum (Site). N 5. Disponível em <http://revistazum.com.br/revista-zum-5/piofigueiroa-fala-a-zum-sobre-o-coletivo-cia-de-foto-e-o-ensaio-passe-livre/>. Acessado
em 29 de dezembro de 2014.(2014b).
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.
FONTCUBERTA, Joan. El beso de Judas: fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
______. La cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Coleção Ditos & Escritos III. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
FREUND, Gisele. Fotografia e sociedade. Lisboa: Vega, 1995.
GARAPA. A margem. In: A margem (catálogo de exposição). 2011.
______. Narrativas Digitais, uma entrevista com o Coletivo Garapa. In: 7 Fotografia (site). Setembro 2013. Disponível em: <http://www.7fotografia.com.br/narrativasdigitais-uma-entrevista-com-o-coletivo-garapa/>. Acesso em: 14 jan. 2015.
GUATTARI, Félix. Da produção de subjetividade. In: PARENTE, André (Org.). Imagemmáquina: a era das tecnologias do virtual. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 1996.
HUMBERTO, Luis. Sobre agências fotográficas. In: Fotografia: universos e arrabaldes. Rio de Janeiro: Funarte, 1983.
JACINTO, Rafael. Entrevista concedida ao autor por e-mail. Em 7 de novembro de 2011.
JAGUARIBE, Beatriz. Realismo sujo e experiência autobiográfica. In: FATORELLI, Antônio; BRUNO, Fernanda (Org.). Limiares da imagem: tecnologia e estética na cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
KASTRUP, Virgínia. A rede: uma figura empírica da ontologia do presente. In: PARENTE, André (org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010.
KEHL, João. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 30 de novembro de 2011.
KERSHAW, Alex. Blood and champagne: the life and times of Robert Capa. New York: Da Capo, 2004
KOBRÉ, Kenneth. Fotojornalismo: uma abordagem profissional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
KOSSOY, Boris. Hercules Florence - 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1980.
LANGE, Susanne. Bernd and Hilla Becher: life and work. Cambridge: The MIT Press, 2007.
LEMOS, André. Ciber-cultura-remix, seminário Sentidos e Processos. In: “Cinético
Digital’, Centro Itaú Cultural. São Paulo, Itaú Cultural, agosto de 2005.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
______. A Inteligência Coletiva. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
______. As tecnologias da inteligência. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 2010.
______. O ciberespaço e a economia da atenção. In: PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010a.
LOPES, Carol. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 22 de novembro de 2011.
LUGON, Olivier. El estilo documental: de August Sander a Walker Evans, 1920-1945. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.
MACHADO, Arlindo. A fotografia sob o impacto da eletrônica. In: SAMAIN, Etiene (Org.). O fotográfico. São Paulo: Editora Hucitec / Editora Senac São Paulo, 2005.
MAGALHÃES, Angela; PEREGRINO, Nadja. Fotografia no Brasil: um olhar das origens ao contemporâneo. Rio de Janeiro: Funarte, 2004.
MCCAULEY, Anne. Escribir la historia de la fotografía antes de Newhall. In: NEWHALL, Beaumont. História de la fotografía. 2.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
MEDIAVILLA, Héctor. Entrevista concedida ao autor por e-mail em 27 de novembro de 2011.
MILLER, Russel. Magnum: fifty years at the front line of history. New York: Grove Press, 1997.
MOUILLAUD, Maurice. Da forma ao sentido. In: PORTO, Sérgio Dayrell (Org.). O jornal: da forma ao sentido. Brasília: Editora UnB, 2002.
NEWHALL, Beaumont. História de la fotografía. 2.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
PAIM, Claudia. Táticas de artistas na América Latina: coletivos, iniciativas coletivas e espaços autogestionados. Porto Alegre: Panorama Crítico Ed., 2012.
PARENTE, André (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 1996.
______ (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2010.
PERSICHETTI, Simonetta.. Encontro de coletivos. In: Trama Fotográfica (site). 2008. Disponível em: <http://tramafotografica.wordpress.com/2008/12/10/encontro-decoletivos/#comments>. Acesso em: 25 dez. 2014.
RHEINGOLD, Howard. A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996.
RITCHIN, Fred. What is Magnum?. In In our time: the world as seen by Magnum photographers. New York. W. W. Norton, 1989.
______ After photography. New York: W. W. Norton, 2010.
ROBERTS, Pam. Alfred Stieglitz, a Galeria 291 e Camera Work. In: Camera Work: the complete chotographs 1903-1917. Köln: Taschen, 2010.
ROUILLÉ, André. A fotografia entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.
______. Fotografia e arte contemporânea. In: FATORELLI, Antonio (Coord.). Fotografia e novas mídias. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / Fotorio, 2008.
SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. 2. ed. São Paulo: Horizonte, 2008.
SANTAELLA, Lucia. Os três paradigmas da imagem. In: SAMAIN, Etiene (Org.). O fotográfico. São Paulo: Editora Hucitec / Editora Senac São Paulo, 2005.
SILVA JUNIOR, José Afonso. O fotojornalismo depois da fotografia. Modelos de configuração da cadeia produtiva do fotojornalismo em tempos de convergência digital. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra - Digital Repository, 2011. Disponível em: <http://repositori.upf.edu/handle/10230/11624>. Acesso em: 13 jan. 2012.
______. Duas ou três observações sobre o world Press Photo. XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2011b.
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. Tradução de Iraci D. Poleti e Regina Salgado Campos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.
SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004.
______. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Florianópolis: Letras Contemporâneas e UNOESC, 2000.
TAGG, John. El peso de la representación. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.
YOUNG, Cynthia. La historia de la “maleta mexicana”. In: La maleta mexicana (site). 2008. Disponível em: <http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/historia. html#2>. Acesso em: 22 dez. 2014.
APÊNDICE
Aqui o leitor encontrará uma lista de coletivos fotográficos contemporâneos, agências fotográficas, fotoclubes e outros grupos que fazem parte deste universo. A intenção é proporcionar caminhos complementares para aqueles que busquem aprofundar seu contato com os temas debatidos. Embora o objetivo seja apresentar essas referências de modo mais direto, alguns tópicos foram brevemente comentados.
Esta lista pode ser encontrada no site do autor, como maneira de facilitar o acesso aos links: eduardoqueiroga.com.
Agências fotográficas
Agence France Presse (AFP) - www.afp.com
Agência Estado – www.ae.com.br
Associated Press (AP) - www.ap.org
EFE - www.efe.com
Folhapress – www.folhapress.com.br
JC Imagem – jcimagem.jconline.ne10.uol.com.br
Magnum Photos - www.magnumphotos.com
Noor - noorimages.com
Reuters Brasil – br.reuters.com
United Press International (UPI) - www.upi.com
Coletivos fotográficos
Muitos dos listados fizeram parte dos encontros e publicações citados ao longo do texto. Embora algumas dessas ações possuam alguns desvios já discutidos anteriormente, estão mantidas todas as referências. As marcações identificam essas participações:
[eco2008] – Encontro de Coletivos Ibero-Americanos [eco2010] – Encuentro de Colectivos Fotográficos Euroamericanos
[eco2014] – E.CO/14
[lab] – Laberinto de Miradas
[zmala] – Zmâla
Activestills (Israel) [zmala] - www.activestills.org
Aevum (EUA) [zmala] - www.aevumphoto.com
Archivo Tafos (Perú) [lab] - facultad.pucp.edu.pe
Argos (França) [zmala] - www.collectifargos.com
Blank Paper (Espanha) [eco2008] [eco2010] [lab] [eco2014] - www.blankpaper.es
Caja de Cartón (Chile) [eco2014] - revistamirafotografica.wordpress.com
Caravane (Bélgica) [zmala] - www.collectif-caravane.com
Cia de Foto (Brasil) [eco2008] [eco2010] [lab]
A Cia de Foto encerrou suas atividades em 2013 e seu site saiu do ar. Alguns dos trabalhos citados ao longo do texto podem ser encontrados nos seguintes links:
Caixa de Sapato (Flickr) - www.flickr.com/photos/ciadefoto
Caixa de Sapato (vídeo no YouTube) - www.youtube.com/watch?v=FOInOE8z6D8
Carnaval - www.foam.org/photographers/c/cia-de-foto
Eleições – acervo.folha.com.br/fsp/2008/10/04/473//5520805
SP de muitos - acervo.folha.com.br/fsp/2010/01/24/101//5917553
Colectivo Nómada (Costa Rica) [eco2010] [eco2014] - www.colectivonomada.com
Documentography (Inglaterra/França/Brasil) [eco2010] [zmala] - www. documentography.com
Dokumental (Uguguai) [eco2014] - www.dokumental.org
Dolce Vita (França) [zmala] - www.dolcevita.com
Encontraste (México) [eco2014] - www.encontrastecolectivo.com
Est&Ost (Vários países) [eco2010] [zmala] - www.estost.com
Fancing Change (EUA) [zmala] - www.facingchange.org
Fotokids (Guatemala) [lab] - www.fotokids.org
Fundación PH15 (Argentina) [lab] - www.ph15.org.ar
Garapa (Brasil) [eco2010] [eco2014] – garapa.org
Coletivo paulista criado em 2008, está citado ao longo do texto.
Generation Elili (República do Congo) [zmala] - eliliblog.free.fr
Gradezero (França) [zmala] - www.gradezero.org
Hans Lucas (França) [zmala] - www.hanslucas.com
Iconoclasistas (Argentina) [eco2014] - www.iconoclasistas.net
In Public (Vários países) [zmala] - www.in-public.com
Item (França) [zmala] - www.collectifitem.com
Kahem (Canadá) [zmala] - www.kahemimages.com
Kameraphoto (Portugal) [eco2008] [eco2010] [lab] [zmala] - www.kameraphoto.com
Kolective25 (Alemanha) [zmala] - kollektiv25.de/en
La Piztola (México) [eco2014] - lapiztola.blogspot.com.br
Las Niñas (Chile) [eco2014] - www.colectivolasninas.com
Le Bar Floreal (França) [zmala] - www.bar-floreal.com
Le Carton (França) [zmala] - www.lecarton.com
Libre Arbitre (Colômbia/França) [zmala] www.librearbitre.com
LimaFotoLibre (Peru) [eco2014] limafotolibre.com
Macú (Guatemala) [eco2014] - colectivomacu.com
Mídia Ninja (Brasil) [eco2014] - midianinja.tumblr.com
Mondaphoto (México) [eco2008] [eco2010] [lab] - www.mondaphoto.com
Myop (França) [zmala] - www.myop.fr
NITRO (Brasil) [eco2014] - nitroimagens.com.br/nitronline
Nophoto (Espanha) [eco2008] [eco2010] [lab] - nophoto.org
Observatório de Favelas (Brasil) [lab] – observatoriodefavelas.org.br
Engloba um projeto importantíssimo, Imagens do Povo, com muitas outras ações derivadas.
Oculi (Austrália) [zmala] - www.oculi.com.au
Odessa (França) [eco2010] [zmala] - www.odessaphotographies.com
ONG (Venezuela) [eco2008] [eco2010] [lab] [eco2014] - www.organizacionnelsongarrido. com
Ostkreuz (Alemanha) [eco2010] [zmala] - www.ostkreuz.de
Pandora (Espanha) [eco2008] [eco2010] [lab] [zmala] – www.pandorafoto.com
Coletivo criado em 2007 e analisado ao longo do texto. Paradocs (Equador) [eco2014] - www.paradocsfoto.com
Parisberlin (Alemanha) [zmala] - www.fotoparisberlin.com
Riva Press (França) [zmala] - www.riva-press.com
Rôle (Brasil) [eco2008] [lab] - www.role.art.br
Ruido Photo (Espanha) [eco2010] [zmala] [eco2014] - www.ruidophoto.com
SCO2 (Brasil) [eco2014]
Signatures (França) [zmala] - www.signatures-photographies.com
Stigmat Photo (Canadá) [zmala] - www.stigmatphoto.com
Sub Coop (Argentina) [eco2008] [eco2010] [lab] [zmala] [eco2014] - www.sub.coop
Supay Fotos (Perú) [eco2008] [eco2010] [lab] [zmala] [eco2014] - www.supayfotos. com/index5.htm
Taller Fotográfico de Guelatao (México) – [lab] - v1.zonezero.com/exposiciones/ fotografos/guelatao2
Temps Machine (França) [zmala] - www.tempsmachine.com
Tendance Floue (França) [eco2010] [zmala] - www.tendancefloue.net
Terraproject (Itália) [eco2010] [zmala] - www.terraproject.net/en/home
Transit (França) [eco2010] [zmala] - www.transit-photo.com
Versus Photo (Perú) [eco2010] [eco2014] - versus-photo.com
7 Fotografia (Brasil) – www.7fotografia.com.br
Coletivo que enfatiza a reflexão. Possui site com ensaios, entrevistas e críticas, além de produzir eventos com debates e projeções.
Fotoclubes:
Cine Foto Clube Bandeirante - www.fotoclub.art.br
Confederação Brasileira de Fotografia – página com uma vasta relação de fotoclubes espalhados pelo país - www.confoto.art.br/fotografia/fotoclubes
Sociedade Fluminense de Fotografia - www.sff.com.br
Outras obras citadas
Caso O. J. Simpson - en.wikipedia.org/wiki/File:OJ_Simpson_Newsweek_TIME.jpg
Caso Brian Walski - http://www.sree.net/teaching/lateditors.html
Robert Capa (muerte de un miliciano) - http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=S earchResult&ALID=29YL530Z78T0
Penélopes Mexicanas - http://www.penelopesmexicanas.org.