1
críticas
22
#1
nov—dez
O que é o Arquipélago
Nos últimos anos, observamos a diminuição de espaços e o consequente esvaziamento da crítica teatral em grandes veículos de imprensa. Ao mesmo tempo, há a emergência de plataformas online, desde sites e blogs até perfis em redes sociais, produzindo valorosas reflexões críticas em torno da produção teatral no país.
A internet possibilitou a multiplicação de vozes, construindo passo a passo um panorama mais diverso em torno da fruição, registro e análise da cena contemporânea.
Quase a totalidade de tais veículos, porém, trabalham de forma independente e muitas pessoas se colocam como voluntárias no exercício da escrita crítica; algumas fazem desta seara seu campo principal de atuação, enquanto outras seguem desenvolvendo trabalhos em paralelo.
A ausência de remuneração traz riscos
3
para a continuidade da prática da crítica teatral a nível profissional, e a (pretensa) horizontalidade das redes também traz consigo desafios em torno da autoridade e da legitimidade da pessoa crítica. Acreditamos que a crítica teatral é antes de tudo parceira da criação artística, sendo uma aliada no campo de disputa do simbólico e da produção de imaginários, especialmente em tempos de crise como os que vivemos. Desse modo, confiamos e apostamos na possibilidade de parcerias com artistas, grupos, produtoras e todas as partes envolvidas na complexa cadeia produtiva da cultura. Assim, coletivamente lançamos o projeto Arquipélago. Com o apoio da produtora Corpo Rastreado, sete veículos receberão um aporte mensal para a publicação de duas críticas teatrais no escopo do projeto. Somos: Cena Aberta, Farofa Crítica!, Horizonte da Cena, Ruína Acesa, Satisfeita, Yolanda?, Tudo, Menos Uma Crítica e OFF Guia de Teatro. Continuamos
4
abertes para novas parcerias a fim de amplificar os investimentos e, assim, mais casas críticas possam ser também contempladas.
Neste momento de nascimento, da emergência destas ilhas em rede, pensamos ser fundamental sermos também transparentes: ainda que a verba para a viabilização do projeto venha da Corpo Rastreado, não se trata de uma filiação dos veículos à produtora, de modo que todas as pessoas participantes seguirão seus próprios critérios e desejos na escolha das obras que terão críticas publicadas dentro do projeto Arquipélago.
5

Farofa Crítica!
Diogo Spinelli e Heloísa Sousa são os editores dessa plataforma, que recebe colaborações pontuais de outros artistas, pesquisadores e críticos, na busca de estabelecer um diálogo constante entre os artistas, as obras e o público potiguar. Em 2021, acontece o lançamento da Revista Farofa Crítica, uma publicação periódica semestral com textos diversos organizados em dossiês, sobre criações, pesquisas e elaboração nas artes cênicas e visuais, com ênfase na Região Nordeste.
O site Farofa Crítica conta ainda com a colaboração dos profissionais Gilberto Galindo e Gabriela Pacheco na criação do site, do layout e da identidade visual.
7

La Mariposa
 Foto: Marcela Guimarães
Foto: Marcela Guimarães
Outros Voos
Por Heloísa Sousa
Em novembro de 2022, durante a programação da 6a edição do Mulheres em Cena, a bailarina e coreógrafa Vanessa Macedo estreou o espetáculo “La Mariposa”, que seguiu em cartaz numa curta temporada no Kasulo - Espaço de Arte e Cultura no bairro Barra Funda, na capital paulista.
A obra faz parte das pesquisas de Macedo sobre o que ela tem nomeado como “dança depoimento”. Diretora da Cia. Fragmento de Dança desde 2002, a artista potiguar vem investigando e criando obras em dança onde questões sobre gênero, cena documental e autodepoimento vem sendo tensionadas a partir da linguagem da dança. Se o teatro contemporâneo vem se debruçando com frequência sobre a cena documental, reposicionando lugares da narrativa, das personagens e das relações entre arte e vida através da criação de cenas pautadas em fatos, recortes ou até distorções da realidade; a dança finda por buscar reposicionar as composições de imagem e movimento a partir das mesmas questões. Perceber como a dança pode criar a partir do autodepoimento torna-se uma questão que oferece outras perspectivas à própria estética, que se apoia frequentemente em narrações de fatos e apresentação de documentos imagéticos ou materiais. Nesse sentido, há um desafio entre dançar as narrações e os documentos - assim como
10
teatro os teatraliza - ao invés de apenas sobrepor as materialidades.
Em “La Mariposa”, Vanessa Macedo narra parte de sua própria história, desde a apresentação das mulheres que compõem sua família até seu percurso na dança. Os dois fatos se aproximam quando as questões de gênero tornam-se um fator intrigante e recorrente na vida da artista, que atravessa diretamente suas pesquisas. Nascida em uma família que está sempre parindo outras mulheres como filhas e netas, Macedo evidencia um fio criativo que vai se projetando nesses corpos. Essas mulheres que estão sempre nascendo, crescendo, buscando outros caminhos, se perdendo, compondo outras famílias, há um amálgama de gerações que condensam passado, presente e futuro. A artista aposta então na escuta de sua filha, também mulher, mas também criança. Se a mulher adulta projeta e costura planos de futuro, a menina criança tece imaginários durante o sono. Macedo, então, recolhe as descrições dos sonhos de sua filha após noites de sono e projeta os áudios enquanto dança.
A narração em off ocupa um lugar primordial na montagem. É a própria voz da Vanessa Macedo que nos contextualiza sobre sua família, suas escolhas na dança e sobre o como o nascimento sucessivo de mulheres nesse núcleo vem intrigando a artista. A sonoridade e entonação da voz da artista alcança um lugar entre a enunciação dos fatos e a confissão dos seus pensamentos aos espectadores, quase como se
11
estivesse sussurrando coisas das quais nem ela mesma compreende em sua totalidade. Em contraposição, a narração da sua filha sobre os sonhos alcança outro lugar com menos nitidez, seja por escolha estética ou por implicações técnicas, a voz da criança exige uma outra atenção e por vezes, acaba se constituindo mais como paisagem sonora do que como uma camada de significação pelas palavras ditas. É interessante observar como o texto adentra a obra em dança, numa linguagem em que as nossas expectativas estão para longe da presença desse elemento. Aqui, o que é dito não é apenas musicalidade, mas é comunicação direta com o público e uma das formas de nos fazer acessar o autodepoimento em si.
“La Mariposa” é uma obra que materializa a pesquisa da artista na possibilidade de uma dança depoimento e que abre mais espaço para uma abordagem estética pouco explorada, quando o depoimento em si é um dos elementos cênicos centrais e condutor da dramaturgia da obra. Mas, nessa perspectiva, como o movimento do corpo se reposiciona nessa estética? Como o movimento é também parte do autodepoimento? Nessa peça, quando o corpo apresenta-se em imagem, dança como que suspendendo o tempo criando uma fricção entre o que está sendo dito e o que está sendo visto, esse gesto dançado parece ganhar uma potência singular. E quando o corpo se move dentro de códigos da dança mais comuns ao espectador, parece distanciar-se do próprio material para se aproximar de outra expectativa. O que Vanessa Macedo propõe
12
não é da ordem da ilustração de fatos vividos ou do manifesto motivado por alguma razão sócio-política; o depoimento aqui ganha um tom confessional, no sentido da sugestão de uma intimidade, de um vínculo entre artista e espectador ao compartilhar algo de si, sem a pretensão de resolver ou impressionar, mas com o intuito de aproximar.
La Mariposa
Coreografia, direção, dramaturgia e pesquisa sonora: Vanessa Macedo
Assistência de direção: Maitê Molnar
Edição e montagem de trilha: Thainá
Souza
Canto (Je prends mon temps):
Dadona
Voz: Isadora
Macedo, Vanessa
Novembro / 2022
Macedo e Vanessa Carvalho
Figurino: Daíse Neves
Máscaras: José
Toro Moreno
Luz: Fellipe Oliveira
Vídeos: Alexandre
Maia
Equipe técnica de operação de luz, som e vídeo:
Cristiano Saraiva,
Diego Hazan, Fellipe Oliveira e Vinicius
Paquitinho Francês
Design: Letícia Mantovani
Produção: Luciana
Venâncio - MoviCena Produções
Assessoria de imprensa: Elaine Calux
13

Sete cortes até você
 Foto: Ivan Soares
Foto: Ivan Soares
Uma Peça de Suturas
Por Heloísa Sousa
Entre outubro e novembro de 2022, a peça “Sete cortes até você” com concepção, direção e dramaturgia de Soraia Costa esteve em cartaz no Teatro da USP na Rua Maria Antônia, na capital paulista. A peça, que foi concebida como um documentário cênico, foi também uma das obras contempladas com o Edital de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo em 2020. Esse edital, que tem revelado obras dramatúrgicas contemporâneas importantes na cidade e dado ênfase ao trabalho da escrita no teatro, ganha notoriedade não apenas pela sua singularidade ao destacar a dramaturgia brasileira, como também tem sido reconhecido pela qualidade dos trabalhos selecionados. Logo, a expectativa em torno das obras montadas através deste edital direciona nosso olhar tanto para a produção textual como para a forma como se elabora uma encenação a partir desse material. No caso de “Sete cortes até você”, tanto a dramaturgia quanto a montagem da encenação oxigenam a cena paulistana com uma obra repleta de detalhes imagéticos e de camadas narrativas que complexificam tanto a abordagem da temática afetiva quanto as discussões estéticas em torno da peças autobiográficas.
Soraia Costa traz à cena a sua própria história de quando se descobre grávida de seu filho. A
16
descoberta da gravidez vem junto da descoberta de que ele nasceria com lábios leporinos, uma fissura labial congênita que, por vezes, pode prejudicar o desenvolvimento da fala e exigir múltiplas cirurgias na criança a fim de fechar a estrutura que nasce aberta. Acompanhamos, então, tanto a decisão da mãe em manter a gestação daquela criança, quanto todos os procedimentos que os dois passam juntos após o seu nascimento. Em cena, essa história é contada com a presença de seu filho, Valentino Manolo, atualmente com 14 anos de idade, que contracena, com a própria mãe, todo esse percurso.
A direção de arte, assinada pela própria autora da peça, articula diferentes elementos visuais que criam um espaço singular de cores e texturas que nos conduz a uma sensação de estarmos penetrando algo. Não estamos apenas imersos na história de Soraia e seu filho, mas também estamos simbolicamente dentro de suas entranhas porque as operações de corte e costura da pele apresentam um sentido real e simbólico para a narrativa. O corte, aqui, parece uma experiência física que nos permite experimentar as sensações afetivas vivenciadas pelas duas personalidades em cena, enquanto eles revivem seu próprio percurso. A mulher é cortada para que a criança nasça, a criança nasce com fissuras, a mulher é costurada para cuidar da criança, a criança é suturada para continuar crescendo. Em um abre-fecha cirúrgico, os laços afetivos vão se alinhavando com uma força peculiar e sensível.
17
Nas experiências com o teatro documental e autobiográfico, vem sendo comum que artistas mulheres tragam as narrativas de suas experiências com a maternidade, como nas peças “Stabat Mater” de Janaína Leite e “Mãe ou eu também não gozei” de Letícia Bassit. Mas, se nessas peças citadas, busca-se também romper com a romantização e sacralização em torno da figura materna; em “Sete cortes até você”, o vínculo estabelecido entre mãe e filho parece se tornar o centro da discussão. O que Soraia apresenta é uma trajetória de sucessivos cortes e rupturas, que vão desde as cirurgias até ao crescimento natural e consequente transformações do filho e da mãe enquanto sujeitos, que levam à formação de um vínculo afetivo singular. Digo que “Sete cortes até você” é uma peça sobre amor. Mas, neste caso, o amor não se estabelece como afeto sagrado, romantizado e moralista; ele se estabelece numa cumplicidade realista, profana, ordinária e vulgar. Se essas palavras soam pejorativas para designar a ideia de “amor”, reitero o uso delas para pensar em uma perspectiva que considera os sujeitos envolvidos na relação como vulneráveis e transformáveis. Soraia apresenta a si e ao seu próprio filho em uma abordagem humana que os aproxima de nós, espectadores, ao ponto de desejarmos aquele tipo de relação apresentada no palco. “Saí da peça com vontade de ter um filho”, disse um amigo meu em uma conversa durante um ensaio, “eu também senti o mesmo”, respondi a ele. E esse desejo não é pautado nas ilusões em torno da maternidade que desconsidera os desafios e
18
sobrecargas emocionais que essa experiência envolve, na verdade, esse “desejar ter um filho” que a peça parece sugerir é equivalente a “desejar a experiência do amor e do vínculo” da qual todos nós somos carentes.
Acho interessante pensar no caráter performativo que essas dramaturgias autobiográficas têm alcançado, no que diz respeito a sua impossibilidade de repetição em outros corpos atores e atrizes diferentes daqueles que são os autores e autoras da obra. Enquanto material dramatúrgico, temos a produção de um material literário que não serve a reencenação. Dessa forma, a dramaturgia autobiográfica encerra seu potencial de encenação em si mesma e permanece apenas como arquivo?
Nesse sentido, o esforço de teatralizar a obra dramatúrgica, enquanto criação de representações, aparece mais nas composições das cenas em seus aspectos visuais, contrastando com a presença “real” das figuras “reais” envolvidas. Os autores e autoras da história reencenam a si mesmos para apresentar um recorte de seu passado. Assim, Soraia faz um desvio desse movimento de encenação através de uma escolha muito interessante, quando encena uma projeção do futuro a partir desses materiais biográficos. Ela encena um devir e provoca, então, uma fissura no próprio teatro documental ao gerar uma “possível realidade”, uma aposta sobre o que virá a partir do que foi vivido. E assim, explora a possibilidade desse teatro não apenas documentar um passado, elaborar um
19
arquivo cênico, mas também fabular um futuro que nos permite rever o presente em outra perspectiva. É, inclusive, essa fabulação que fortalece a dialética da obra.
“Sete cortes até você” torna-se uma obra significativa no repertório de peças documentais e autobiográficas brasileiras, não apenas pela narrativa apresentada, mas principalmente pela condução das cenas a partir de seu potencial imagético, lúdico e experimental; valendo-se de múltiplas linguagens artísticas, da música ao audiovisual para compor sequências poéticas que contrastam com a dureza da realidade. Como quem faz uma piada antes de entrar na sala de cirurgia, não para minimizar ou camuflar a gravidade e risco da ação que irá se suceder, mas para aproveitar o momento presente e tornar o corpo consciente de sua vulnerabilidade por afetos alegres.
Sete cortes até você
Concepção, Direção
e Dramaturgia:
Soraia Costa
Elenco: Soraia
Costa e Valentino
Manolo
Produção: Costa & Manolo
Consultoria de
produção: Henrique
Mariano
Assistência de produção: Carô
Calsone, Cris Maluli
Animação: Jonas
Teodoro
Participação
especial: Renato
Santana
Desenho de luz: Aline Santini
Direção de arte:
Soraia Costa
Figurino e adereços: Daniela Gimenez
Cenário: Carmela
20
Rocha, Sofia Gava e Paula Thyse
Produção Cenográfica e Cenotécnica: Yuri Godoy e Gabriel Salvador
Videomapping: Ivan Soares
Engenharia de Som e Operação Técnica: Rodrigo Florentino
Cinematografia/ direção de fotografia subaquática: Lucas Pupo
Assistente de fotografia subaquática: Richard Reis
Iluminação filmagem subaquática:
Novembro / 2022
Octa Produções Ltda
Edição e coloração: Soraia Costa
Mergulhador de segurança: Felipe Bataline
Operador de câmera para making of: Alef Paz
Operador de drone: Presley Targino
Trilha sonora: Soraia Costa
Coreografia: Fernando Delabio
Provocadores: Janaina Leite, Maria Amélia Farah, Érica Montanheiro e Eric
Lenate.
Designer gráfico: Henrique Mello
Preparador vocal musical: Eric D´Ávila
Assessoria de imprensa: Nossa Senhora da Pauta
Advogado: Marcos Porto
Apoio filmagem: Liquidophoto e Octa Produções Ltda
Apoio locação: Evidive – Escola de Mergulho e Hotel Refúgio Vista Serrana
21

Candeia
 Foto: Mylena Sousa
Foto: Mylena Sousa
Peça para aquecer os pés [e os corações]
Por Diogo Spinelli
Acolhimento. Essa foi uma das palavras que mais ficaram presentes na minha mente e no meu corpo após assistir ao espetáculo Candeia, obra mais recente do Grupo Estação de Teatro, de Natal/RN. Não apenas porque parte da dramaturgia do espetáculo é calcada em uma história relacionada diretamente a esse termo, mas principalmente porque essa talvez seja a sensação que mais emana da obra desde seu princípio, se perpetuando até o seu momento derradeiro.
É na delicadeza de pequenos detalhes – como quando temos nossas mãos desinfectadas com álcool por uma das atrizes antes mesmo de chegarmos ao espaço cênico, ou a presença do título do espetáculo bordado em pequenas toalhas distribuídas ao público – que, no conjunto total da obra, é possível observar o zelo presente neste que é o primeiro espetáculo dirigido por Titina Medeiros.
Apesar de ser apresentada em espaços abertos, o que poderia pressupor uma encenação mais expansiva e para públicos mais volumosos, Candeiaé uma obra íntima, realizada para poucas pessoas por sessão. O que ocorre é que a relação com os elementos da natureza é um dos pilares centrais da obra. Ao ser apresentada ao ar livre e em áreas próximas a árvores, como foi o caso da sessão que pude acompanhar,
24
essa relação não é apenas valorizada, mas pode ser também de certa forma vivenciada pelo público presente.
A estrutura cenográfica do espetáculo evoca a ambiência dos alpendres, dos terreiros ou quintais –lugares localizados numa zona entre o público e o privado, nos quais pratica-se não apenas a sabedoria das ervas, mas uma série de conhecimentos advindos dos cruzamentos realizados em nosso continente e que resultaram em religiosidades afro-ameríndias que acessam o divino de forma sincrética e popular.
É nesse local, a um só tempo místico e mundano, que nos encontramos com quatro benzedeiras que vamos conhecendo pouco a pouco, na medida em que acompanhamos o modo como cada uma se relaciona com o mundo e como elas se relacionam entre si, em situações que também pendulam entre o sagrado e o terrenal. Essas contradições humanas fazem com que as cativantes figuras criadas pelas quatro atrizes em cena (Ananda K, Manu Azevedo, Múcia Teixeira e Nara Kelly) ecoem afetos vinculados a avós, tias, benzedeiras e outras figuras que povoam nossa memória coletiva.
Com relação à atuação, é interessante perceber como cada atriz acessa – ou nos dá a ver – sua personagem de um modo bastante particular, sem que exista a tentativa de uma uniformização entre os registros de interpretação adotados na obra. Ainda assim, esses diferentes níveis de teatralização adotados pelo elenco
25
de alguma forma complementam-se e harmonizamse no todo, acabando por ressaltar as características próprias de cada uma das quatro figuras, de modo que todas nos pareçam críveis e reconhecíveis.
Por sua vez, a dramaturgia de Candeia é tecida de modo que não seja apresentada ao público – ao menos não de início – nenhum tipo de situação dramatúrgica ou cênica que sugira um desenvolvimento dramático convencional. Esse fato aproxima o texto e a encenação do que seria a fruição de um encontro real, como se o fato de entrar em contato e conhecer aquelas figuras já bastasse, por ser justamente essa ação o acontecimento [teatral] em si. Essa opção me fez recordar as muitas vezes quando, nas minhas pesquisas, entrei em contato com mestras e mestres da cultura popular, com os quais a relação se dá justamente através da escuta de suas histórias, de suas experiências de vida. Nesse sentido, Candeia é uma obra que bebe muito da tradição oral, possuindo na palavra e na relação direta com o público suas principais forças.
Dessa maneira, no momento em que o relato da memória de uma das personagens é encenado de forma dramática, há na obra uma mudança na linguagem estabelecida até então. Essa variação, apesar de não chegar a ser uma ruptura, causa certo estranhamento, talvez justamente porque esse momento de certa forma nos faz recordar de que estamos diante de uma obra teatral, e não da realidade.
26
É curioso perceber como, por mais que haja construções corporais bastante teatralizadas como aquela proposta por Ananda K, parte do encantamento proveniente do jogo cênico proposto por Candeia resida nessa mescla entre representação e realidade: há quase que uma predisposição em querer acreditar naquelas figuras, em seus poderes curativos e em suas histórias, seja pela maneira como somos recebidos, seja por um reconhecimento afetivo com o que nos é mostrado, ou ainda porque nos sentimos, de alguma forma, cuidados por elas.
Em uma de suas primeiras falas, é a personagem de Ananda que nos relembra que para que as simpatias praticadas ali funcionem, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Penso que essa fala é uma chave com a qual a obra nos convida a acreditar na potência do encontro que nos é proposto. E desse modo, se estivermos dispostos a firmar esse pacto, Candeia tem a potência de converter-se, ela mesma, em um rito de cura e renovação.
Candeia
Coreografia, direção, dramaturgia e pesquisa sonora: Vanessa Macedo
Assistência de direção: Maitê Molnar
Edição e montagem de trilha: Thainá
Souza
Canto (Je prends mon temps):
Dadona
Voz: Isadora
Macedo, Vanessa Macedo e Vanessa Carvalho
Figurino: Daíse
Neves
27
Máscaras: José
Toro Moreno
Luz: Fellipe Oliveira
Vídeos: Alexandre
Maia
Equipe técnica
Dezembro / 2022
de operação de luz, som e vídeo: Cristiano Saraiva, Diego Hazan, Fellipe Oliveira e Vinicius Paquitinho Francês
Design: Letícia Man-
tovani
Produção: Luciana
Venâncio - MoviCena Produções
Assessoria de imprensa: Elaine Calux
28
29

Dr. Anti
 Foto: Ligia Jardim
Foto: Ligia Jardim
Sobre um teatro político
Por Heloísa Sousa
Em dezembro de 2022, o SESC Ipiranga (SP) recebeu uma curta temporada de apresentações da peça “Dr. Anti” da Cia. Extemporânea, atuante há sete anos na cidade de São Paulo. A peça autoral escrita por João Mostazo e dirigida pelo autor juntamente com a encenadora Inês Bushatsky, se une a um grupo de poucas peças teatrais brasileiras que tentam reelaborar a mais recente situação política brasileira através do teatro.
A peça busca reconstruir o retrato de um núcleo negacionista. Esse núcleo é formado por três familiares e uma artista que recebem uma dupla em sua residência, Dr. Anti e sua parceira. O encontro entre todos se dá em torno de uma mesa de jantar. O “quadro da refeição” é cenário comum e simbólico de um espaço de diálogo, da troca de opiniões, da comunhão, da partilha. Atentando para o fato de que essa partilha pode derivar em dezenas de afetos diferentes, entre discordâncias, concordâncias, pactos e outras formas de aliança ou de separação. Alguns discursos vão sendo partilhados, porque são nesses momentos de comunhão que nós também nos abrimos às mudanças de percepção, aprendemos formas de ser ou reiteramos aquilo que já pensávamos. A mesa torna-se, na vida e na arte, espaço de convivência e de enfrentamento – estar diante do outro enquanto se
32
come. E a mesa, dentro de uma residência, não deixa de simbolizar um pequeno campo de batalha, onde disputamos sujeitos e narrativas. Entendemos, dentro daquela pequena comunidade, quem está de qual lado da trincheira. Não à toa, muitas dramaturgias modernas e realistas reconstruíram esse espaço na cenografia. Em “Dr. Anti” essa cenografia reaparece, com ar meio kitsch, artificial, esverdeado e já nos avisa do jogo dialógico que estará por vir.
Mesmo que todas as personagens não tenham um parentesco explícito entre si, colocá-las ao redor de uma mesa e citar algumas como familiares, nos lembra da família tradicional brasileira e seus valores distorcidos; onde os ideais partilhados e reiterados por um núcleo é mais importante do que os laços consanguíneos em si. Uma das bases dessa ideologia de família é o aprisionamento dos gêneros em determinações biológicas e performances antagônicas entre si. Além disso, se observarmos as teorias de Friedrich Engels em “A origem da família, da propriedade privada e do estado”, o autor destaca o núcleo familiar como uma construção material, real e simbólica do nosso ideal de nação. Onde os sujeitos dessa comunidade se assumem como semelhantes e defendem uns aos outros para sua própria perpetuação. Em “Dr. Anti”, essa dimensão familiar não alcança tanto destaque, mas a transposição de uma sociedade para um pequeno núcleo simbólico faz funcionar a lógica de pensar um movimento social ou citar uma classe a partir de cinco figuras arquetípicas.
33
No caso dos personagens de “Dr. Anti”, o reconhecimento das figuras apresentadas é quase imediato. Mostazo faz um exercício interessante, enquanto dramaturgo, de criar tipos a partir das figuras repetidas, hipermidiatizadas e importantes para a ascensão da extrema direita no Brasil na última década. É possível ver Olavo de Carvalho no Dr. Anti e suas teorias pseudocientíficas e conspiratórias; assim como enxergamos na sua companheira-assistente, personalidades como Heloísa Bolsonaro (esposa de Eduardo Bolsonaro e que reforça um estereótipo de mulher com forte influência nas redes sociais) ou a Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro. A elite burguesa brasileira e os representantes políticos de novos partidos sensacionalistas, também são representadas nessas personagens desenhadas pelo autor.
Durante o jantar, somos servidos de uma dramaturgia que constrói um retrato puro e debochado de como enxergamos a direita brasileira com seus negacionismos e estratégias de articulação política. Só que essas estratégias são mais da ordem da elaboração de discursos facilmente reproduzíveis do que de uma mobilização real em prol de alguma transformação. Não à toa ela se pauta na virtualidade para operar transformações na realidade. O negacionismo é primordial nessa dramaturgia. Negar a realidade das coisas. Existe uma ação irracional das personagens que dissociam frequentemente forma de
34
conteúdo. Embora esteja visível o sangue escorrendo no rosto, ainda assim acredita-se que aquilo é algo positivo porque ele é dito como tal. Ainda que seja proferido um discurso sem nenhum fundamento ou comprovação, existe um esforço inquestionável em acreditar nesse discurso que acaba por ser aceito e rapidamente reproduzido.
O que se constrói para o espectador é esse retrato bizarro, onde o ridículo e o irracional já estão postos diante dos nossos olhos desde o início, o que nos resta é apenas reiterar o quanto ele é, de fato, ridículo e irracional e neste ponto, os espectadores terminam a peça com a mesma percepção que tinham do início. Faço essa aposta na recepção do espectador que não se transforma, porque estou considerando o tipo de público que costuma frequentar os teatros e ainda mais, peças como essa, assim como suas posturas políticas. Apesar do nosso desejo, não é muito provável que um bolsonarista se desloque até o SESC Ipiranga, à noite, num final de semana, para assistir teatro contemporâneo brasileiro. E se caso isso aconteça, como ele sairá se sentindo ao final da peça?
Em “Dr. Anti”, observamos o que eu nomearia de uma dramaturgia-retrato, onde a imagem-texto é montada desde o início da peça e segue apresentando as mesmas linhas identificadas até o final dela. É possível observar como o monólogo inicial do Dr. Anti diz sobre o texto que se segue e o estilo de atuação. Isso não torna o texto, necessariamente menos potente. Meu convite
35
aqui é para direcionarmos um olhar mais minucioso à obra da Cia. Extemporânea, justamente porque a seriedade e coragem do trabalho nos convidam a um enfrentamento com a obra, com o contexto e com a produção teatral mais ampla se colocarmos em perspectiva.
Mostazo escreve diálogos que oferecem ritmo pra encenação e uma possibilidade consistente de jogo entre os atores e atrizes; além de articular e pôr em cruzamento discursos recorrentes da direita que atacam diversos campos de conhecimento e formas de subjetividade. A encenação busca construir um jogo de contradições entre o que é visto e o que é dito, nos fazendo notar a incoerência entre prática e discurso com nitidez. Entretanto, talvez, a ideia de teatro político que nos parece tão urgente como uma ética dentro da prática artística, necessita nos expor a composição ao invés de apenas apresentar o puro retrato completo. O que nos interessaria, de fato, não é a reprodução do retrato – essa imagem que já estamos habituados a ver e criticar; mas sim, o que há por trás desse retrato –rasgar a tela do quadro, observar o que está oculto.
Mais do que assistir ao Dr. Anti manipulando um núcleo desconhecido com maestria, onde desde o início já o identificamos como “vilão” – é ele quem arrasta o corpo no prólogo – seria importante compreender como essa figura ganha força naquela mesa de jantar, como ele realmente convence e como que as pessoas entram no fluxo do negacionismo. É compreendendo como as
36
figuras se compõem nesse cenário apocalíptico que poderíamos estar diante da possibilidade de identificar essas ascensões na realidade e rompê-las ou visualizar suas consequências. E talvez, até nos perceber com essa centelha que pode nos fazer cair na mesma armadilha, que tanto zombamos quando os outros caem.
A dita polarização política que se armou no Brasil, criou um cenário maniqueísta de bem e mal, herói e vilão, que freou alguns debates críticos e possibilidades de discussão de análises mais consistentes sobre a realidade que pudessem, inclusive, sugerir ações sociais que transformassem formas de pensar e agir politicamente. O teatro parece ter entrado nessa mesma estrutura, tornando-se ação artística de uma esquerda que se percebe intelectualmente superior e aponta o dedo para a outra metade da população que vem pensando de modo contrário a ela, designandoos como estúpidos. Isso sem se permitir compreender o que leva uma pessoa de classe baixa, operária, por vezes integrante de uma minoria, a defender um discurso que impossibilita sua própria autonomia e existência no mundo. É sem esse esforço de compreensão que a mobilização coletiva torna-se falha, antiética e infantil. Reitero aqui, que não é uma defesa das figuras de poder em seus projetos genocidas, mas uma tentativa de olhar para a população que apoia esse projeto e perceber como ela se constrói nessa incoerência e quais as possibilidades de escapar dela.
37
Nesse sentido, esse teatro político, que apenas apresenta um retrato já conhecido desse cenário, finda por operar um narcisismo. “Vou ao teatro para ver diante de mim a afirmação de tudo aquilo que eu já penso”. A arte elabora um contorno imagético e textual para reiterar aquilo que o espectador já sentia, já observava e já pensava. Termino a obra com a sensação de completa identificação com o discurso. Nem eu, nem a situação são postas em perspectiva ou são acionadas em sua complexidade. Esse retrato espelha minhas expectativas discursivas.
Mas, é importante destacar que Mostazo dá um passo fundamental ao criar uma dramaturgia que direciona nosso olhar para o outro lado da trincheira. Criar uma obra que nos faça observar as figuras sociais as quais temos repulsa, já é um movimento mais desafiador do que a dramaturgia que parece sublinhar a manifestação daquilo que nós acreditamos ser. Poucos dramaturgos e dramaturgas brasileiras tem se desafiado a escrever sobre o nosso atual cenário político observando a ascensão da direita; a obra da Cia. Extemporânea faz isso, assim como a encenação “Verdade” do diretor e dramaturgo Alexandre Dal Farra (SP), estreada recentemente também em São Paulo.
Temos uma tendência a não querer olhar para os nossos opostos, nossos antagonismos, como se ignorar a presença deles fossem desarticular suas operações. Quando, na realidade, a recusa cega desse antagonismo apenas desarticula qualquer
38
possibilidade relacional e democrática (sugiro a leitura dos textos de Claire Bishop sobre o assunto). E quando falo recusa, reitero que seria o movimento de “fingir coletivamente que tal coisa não existe”, ao invés de enfrentá-la com o empenho de desarticulá-la, seja por diálogo ou por agressividade.
Mais desafiador é retirar o véu do julgamento imediato e buscar compreender as razões por trás dessas figuras antagônicas, buscando uma análise sociológica pertinente e complexa. Nesse sentido, penso que a reafirmação do Dr. Anti como um vilão elabora um movimento decrescente da personagem. Se já a determinamos desde o início e ela segue fiel aos seus próprios princípios, dramaturgicamente ela perde força. E se, ao contrário, nós do público, nos deparássemos com a possibilidade de acreditar nele? Não porque iríamos acolher o seu discurso, mas para sermos capazes de compreender, como ele, de fato, opera. Isso, a arte consegue fazer para além da filosofia e da sociologia. Trazer para o campo do afeto, a operação narrativa construída. Fazer com que eu sinta aquilo que o outro, que eu considerava contrário a mim, sente. Não para me aliar a ele, mas para entender seu mecanismo afetivo e como desarticulá-lo.
O estilo da atuação também é outra escolha determinante na recepção da peça. Com uma atuação completamente irônica, a encenação acaba eliminando qualquer resquício de seriedade que possa colocar a ironia em lugar de tensão. O deboche
39
escrachado conduz a percepção do espectador. Não há brecha para duvidar das personagens, para ver alguma coerência nelas. Elas são ridículas do começo ao fim. O espectador torna-se julgador constante e absoluto das figuras.
Ao longo dos séculos, tanto a dramaturgia quanto outros esforços literários passaram a criticar fortemente a escrita da história como uma estratégia de poder e a organização narrativa em começo, meio e fim, como se uma sequência encadeada de fatos, de modo linear e unilateral, pudesse dar conta da nossa realidade mais rizomática. Mas, o retrato, quadro, paisagem bidimensional tão pouco dá conta disso. A ideia de composição, de reconstruir ao nosso olhar o modo como as coisas se formam e se transformam pode ser um lugar mais arriscado e necessário para a dramaturgia desse teatro político brasileiro que pretenda dialogar diretamente com nossa realidade.
O retrato é tão consistente que vários signos aparecem como elementos de cena rígidos, o copo de leite, o sangue no rosto, a salada de alface, a arma. Talvez, estejamos fortemente acostumados com a lógica do discurso instagramável. As redes sociais e o fluxo dos hiperlinks suprimiram o tempo das composições. As imagens publicitárias precisam ser fortes o suficiente para fixar em nossa mente na primeira olhada e nos fazer reproduzir. Não à toa, discussões complexas e longas sobre femininismo, lugar de fala, luta de classes, entre outras, foram reduzidas de teses e teorias extensas para frases com o limite de caracteres de
40
um tweet e com efeito suficiente para ser repostado. A frase é dissociada do texto, reproduzida em velocidade surpreendente, o que acaba por desviar a discussão para um campo improdutivo ou ainda estacioná-lo no binariedade do certo/errado, bem/mal. Questionome em que medida essa velocidade de elaboração e reprodução das imagens e dos textos não vem afetando a criação e a recepção do público.
Na peça “Dr, Anti” soma-se ainda uma crítica à arte e seus projetos de criação a partir dos contextos vividos. No núcleo, nos deparamos com a personagem da artista que tenta se engajar, propor e criar algo a partir daquela situação, mesmo estando imersa no caos e sem a possibilidade de observar a realidade criticamente. E é essa figura que parece arrematar a nossa ineficiência e impotência diante do cenário, onde não sabemos como transformá-lo. Então, para que serve mesmo a arte? Para que serve essa peça que acabamos de assistir se ela é derivada de um esforço simples, alienado e inútil de reproduzir em linguagem artística uma realidade irracional e inapreensível que continua perceptivelmente irracional e inapreensível? Essa escolha dentro da obra, enquanto discurso, acaba se voltando para a própria peça; porque chegamos ao fim com a certeza de todo o absurdo da paisagem e a única coisa posta em dúvida é a própria arte, o próprio esforço daqueles artistas em fazer aquela obra. E, enquanto puro retrato, de fato, a arte reitera certa inutilidade. Mas, enquanto composição, talvez ela possa sim reconstruir afetos que nos faça perceber a
41
realidade sob outra ótica, que outras ciências humanas não seriam capazes de elaborar por reconstrução analítica e descritiva dos fatos.
Mas, me parece que há também um lugar de honestidade nessa dúvida sobre o papel político da arte ou qualquer utilidade que ela tenha a nível social. Uma tentativa de dissociar a arte do discurso capitalista de produtividade, utilidade e serventia; faz ela também entrar em crise sobre seu compromisso ético e responsabilidade comunitária. A arte não apenas como registro, mas também como exercício de recomposição afetiva e fabulação. E se Dr. Anti pode nos inquietar ao reiterar o quadro, destaco aqui o esforço da obra em redirecionar nosso olhar e ao menos nos colocar diante do problema para que possamos, em longas conversas e sucessivos processos criativos e de pesquisa, reorganizar o teatro político brasileiro em suas emergências.
Dr. Anti
Direção: Ines
Bushatsky e João
Mostazo
Texto: João Mostazo
Elenco: Ernani
Sanchez, Felipe
Carvalho, Letícia
Calvosa, Mariana
Marinho, Mau
Machado, Regina
Maria Remencius.
Atores substitutos:
Tetembua Dandara
Cenário: Fernando
Passetti
Luz: Aline Santini
Figurinos: Marichilene Artisevskis
Direção musical: Gabriel Edé
Artista visual: Lídia
Ganhito
42
Contrarregra: Julia
Tavares
Dezembro / 2022
Produção: Corpo Rastreado – Anderson Vieira
Criação: Cia. Extemporânea
43

44
Tudo, menos uma crítica
Tudo, menos uma crítica. Além do nome da plataforma, este é o desafio dela, seu ponto de início e seu ponto final: como escrever textos reflexivos que sejam tudo, menos uma crítica? Nesse sentido, a pesquisa de Fernando Pivotto, desde 2017 tem sido a escrita reflexiva a partir de espetáculos teatrais que se afaste do modelo avaliativo, da chancela e da orientação de consumo, e se aproxime de outras possibilidades poéticas e sensíveis. A crítica pode ser um ponto de encontro? A crítica pode ser uma conversa? A crítica pode ser um espaço de partilha?
A partir destas perguntas, o TMUC tem se mantido ativo e interessado nas trocas possíveis e na construção coletiva entre artistas, obra, crítica, leitores e quem mais se interessar por teatro.
45

Amores que... O que?
 Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

48
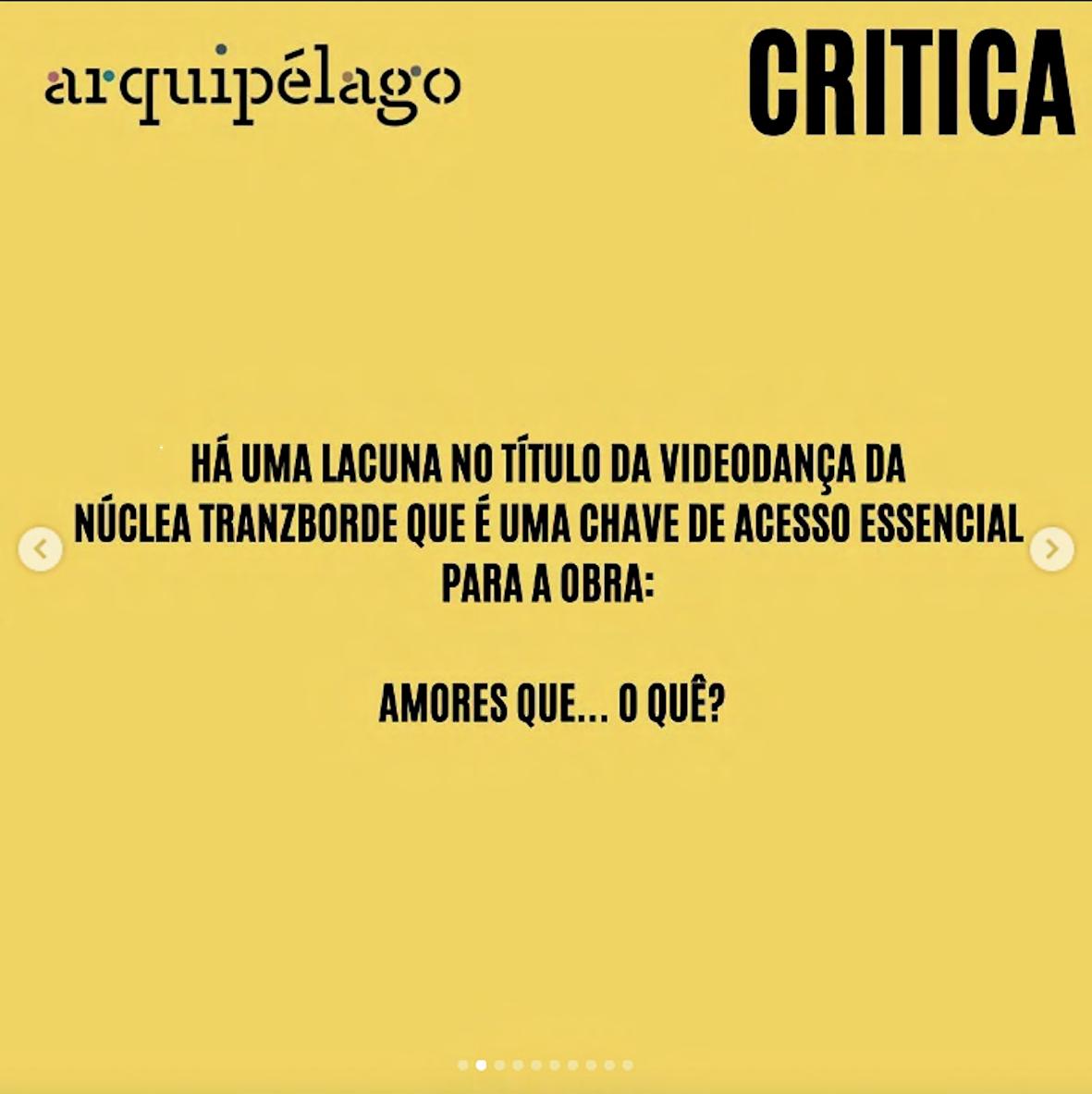
49

50
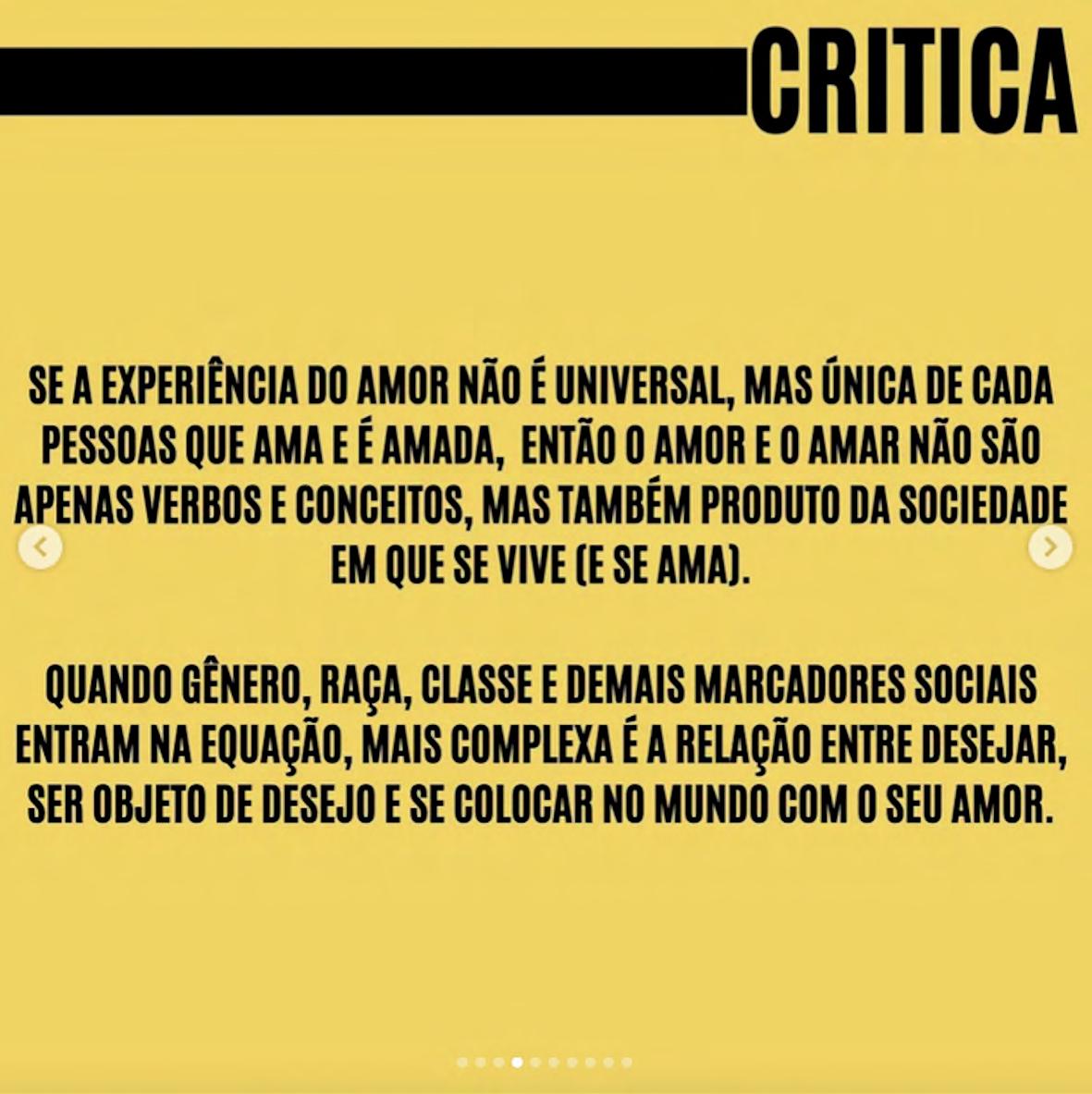
51

52

53

54

55
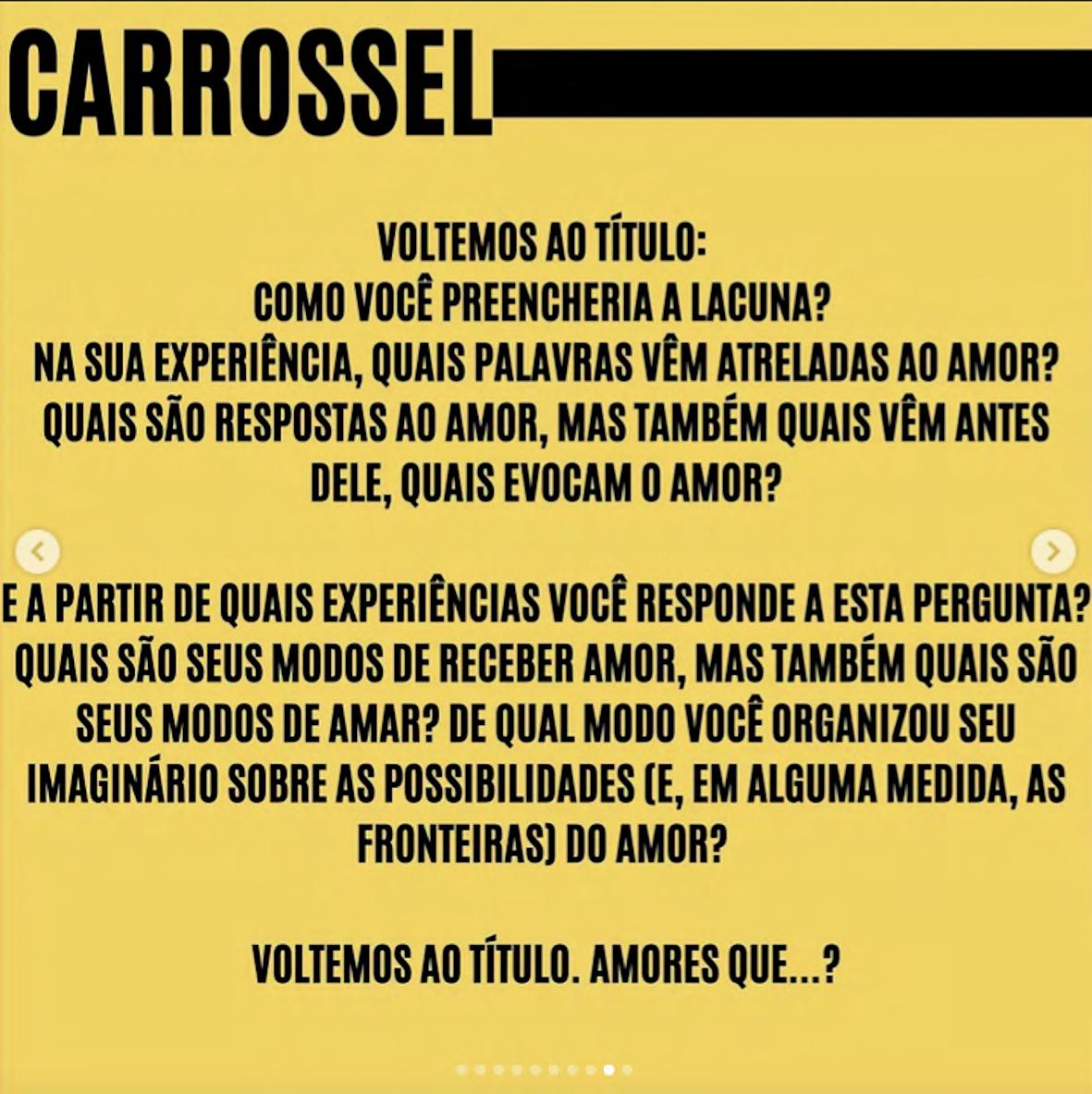
56

57
Amores Que... Ô Que?
Roteiro e Direção
Geral : Oru Florydo.
Performers : Bibi de Bibi, Bruxa Travesti, Gabs Ambròzia, Laian Lara, Menine Negre e Nu Abe.
Figurinos e Adereços : Italo Iago.
Trilha Sonora : Bibi de Bibi.
Mixagem Final : Yalla Kala.
Iluminação : Serafim do Mundo.
Videomaker : Nu Abe
Novembro / 2022
e Oru Florydo.
Edição : Nu Abe.
Comunicação e Social Media : Anderson Vieira. Assessoria de Imprensa : Nossa Senhora da Pauta.
Design : Oru Florydo e Istefan.
Produção Executiva : Yaga Goya.
Produção Geral : Anderson Vieira.
Realização : Tranz-
borde |
Programa VAI : Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo.
Apoio : Chákara
Amorada, Centro de Referência da Dança de São Paulo, Corpo Rastreado, Oficina Cultural Oswald de Andrade.
Agradecimentos : Grupo Claricena, Indra Haretrava, SubT Vegan, Teatro Já!
58
59


Foto: Laerte K é ssimos
4 da espécieA história do corpo coisa nenhuma

62

63

64
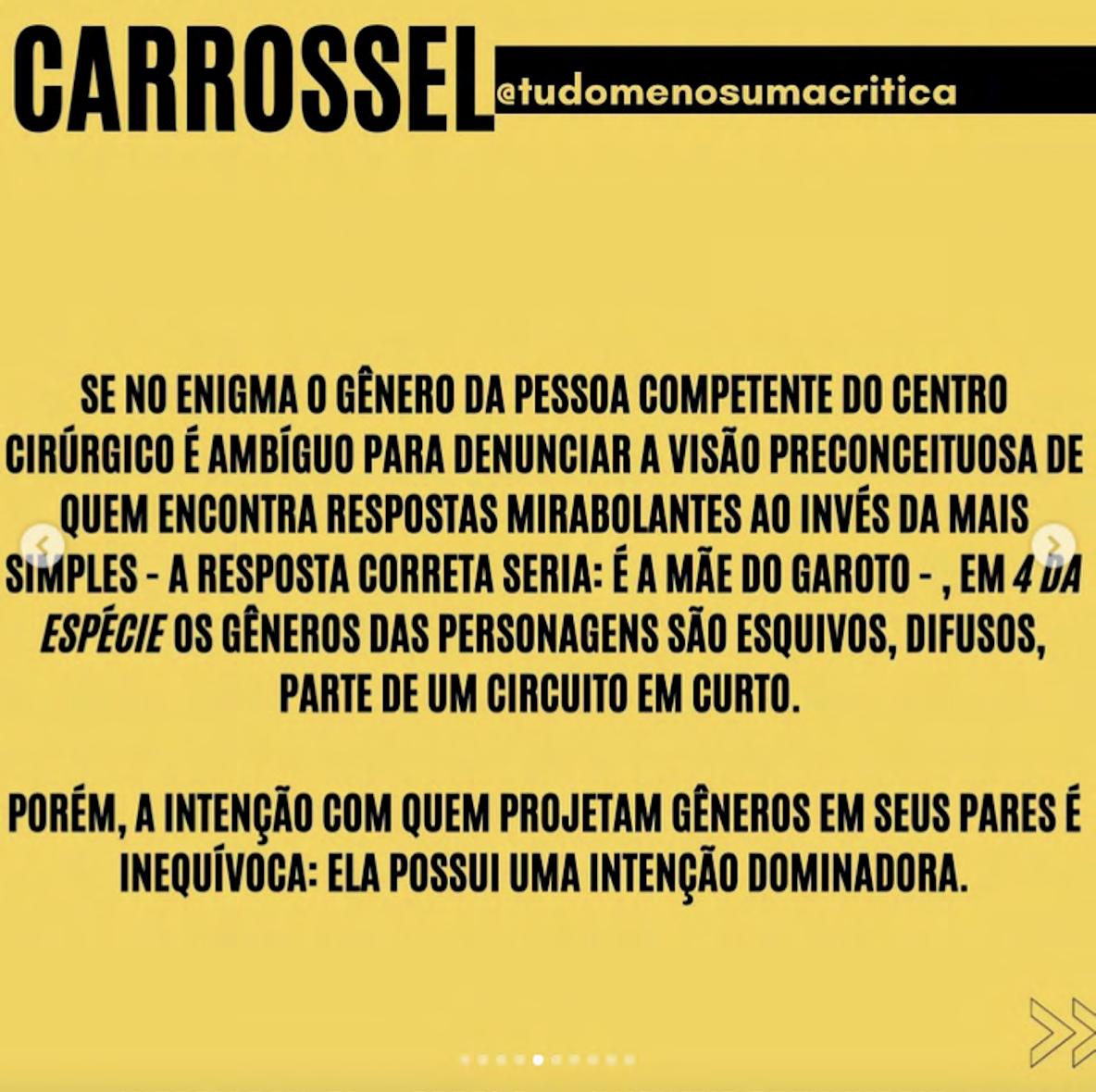
65
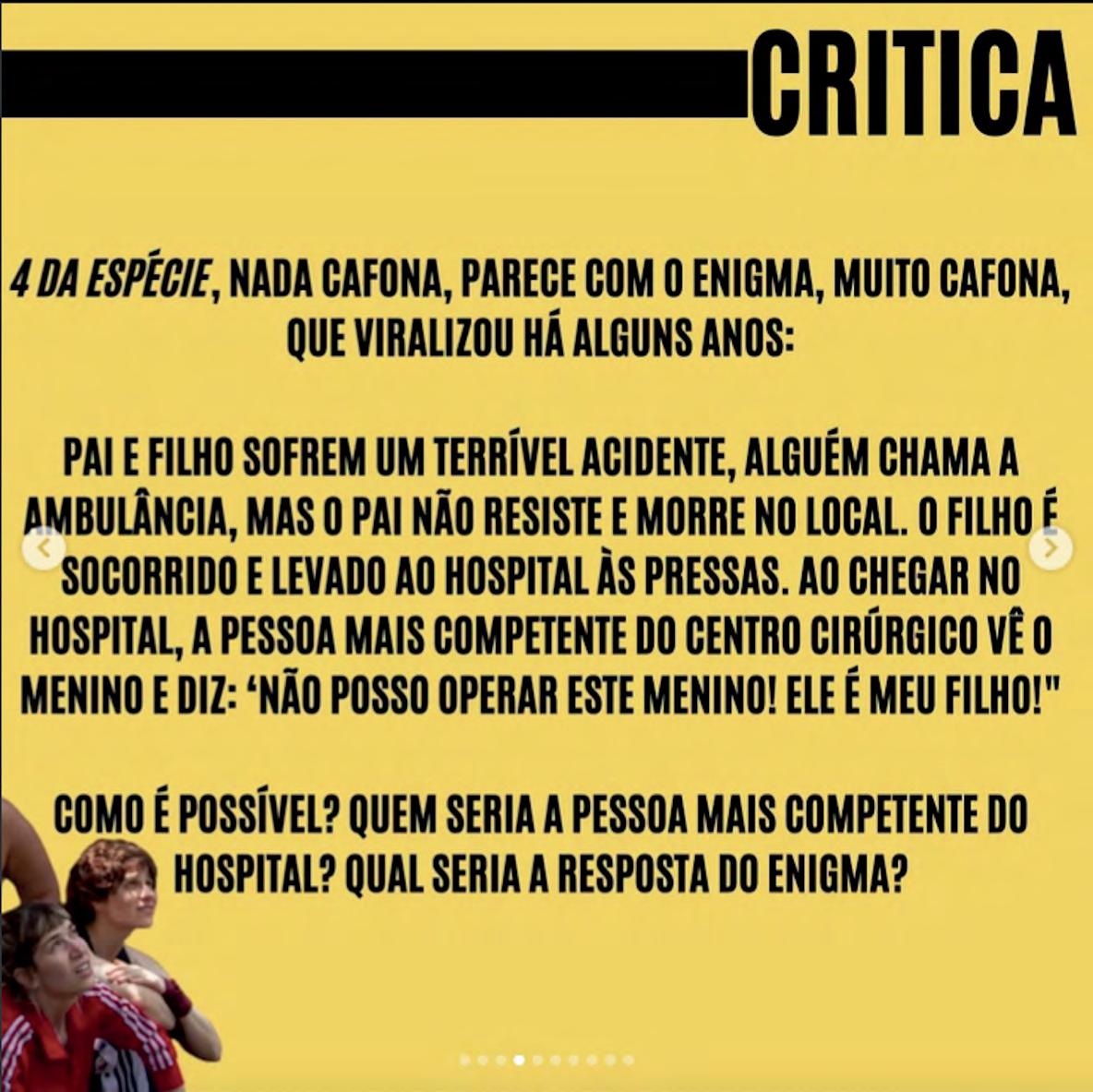
66
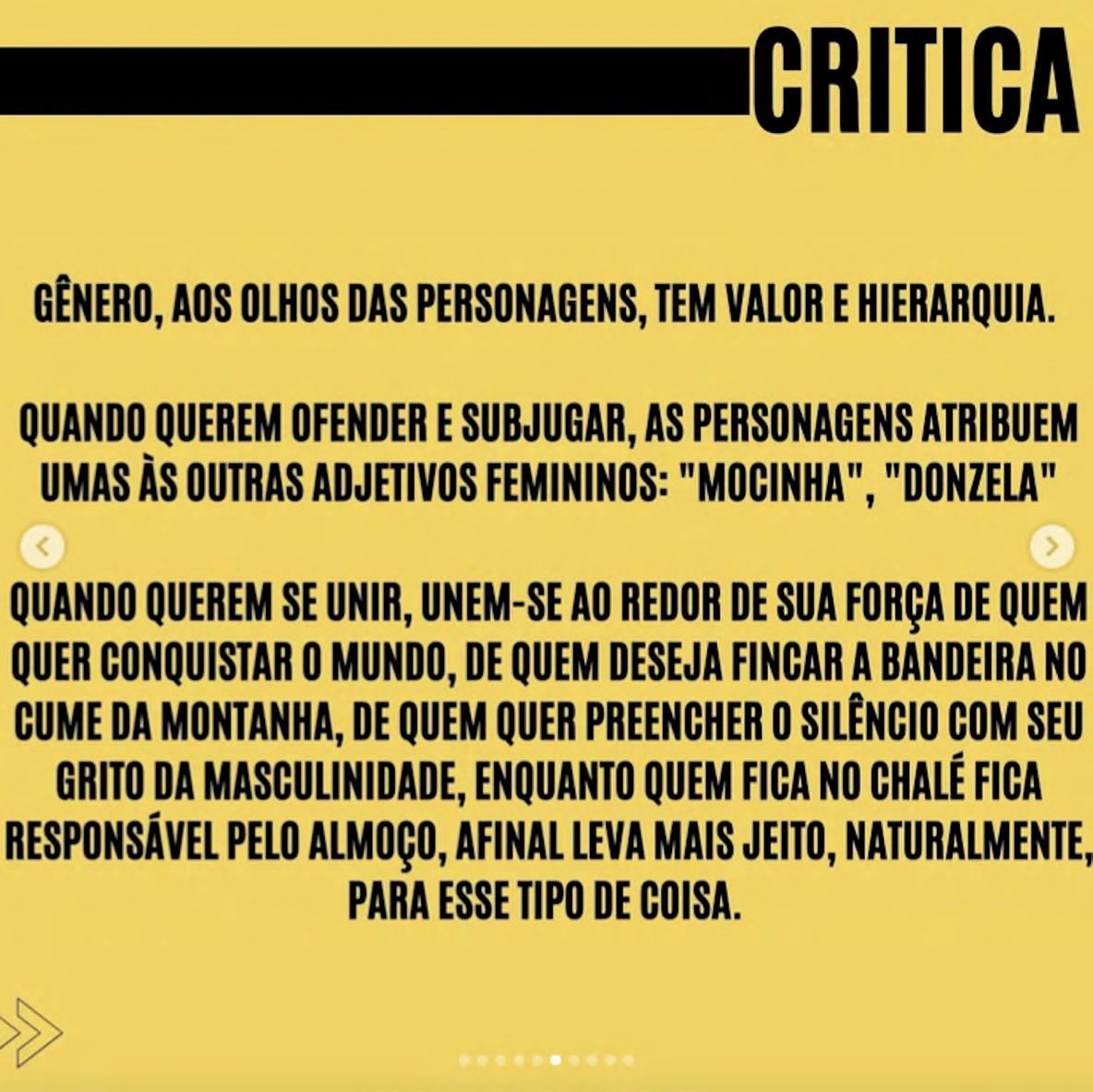
67
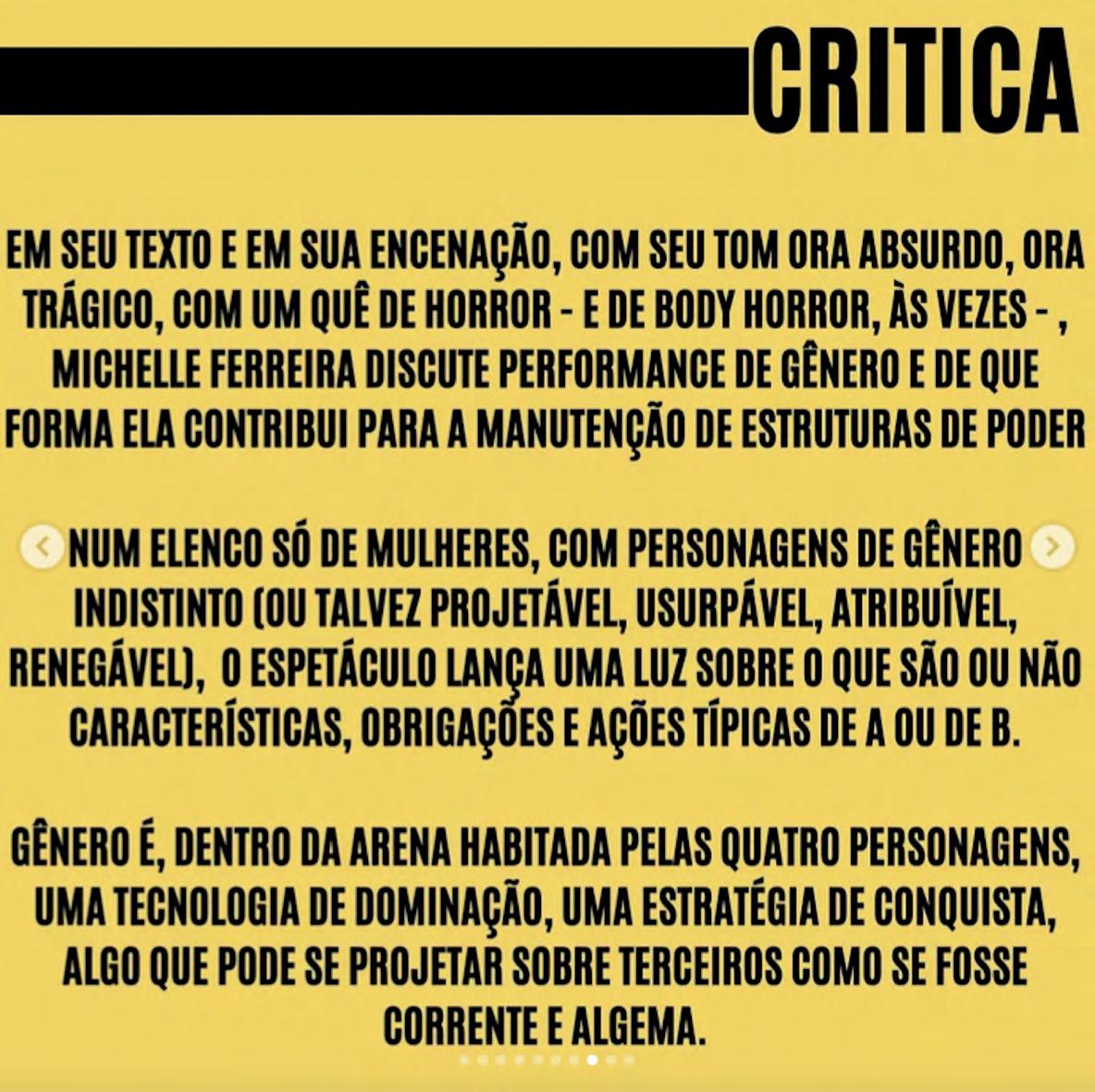
68
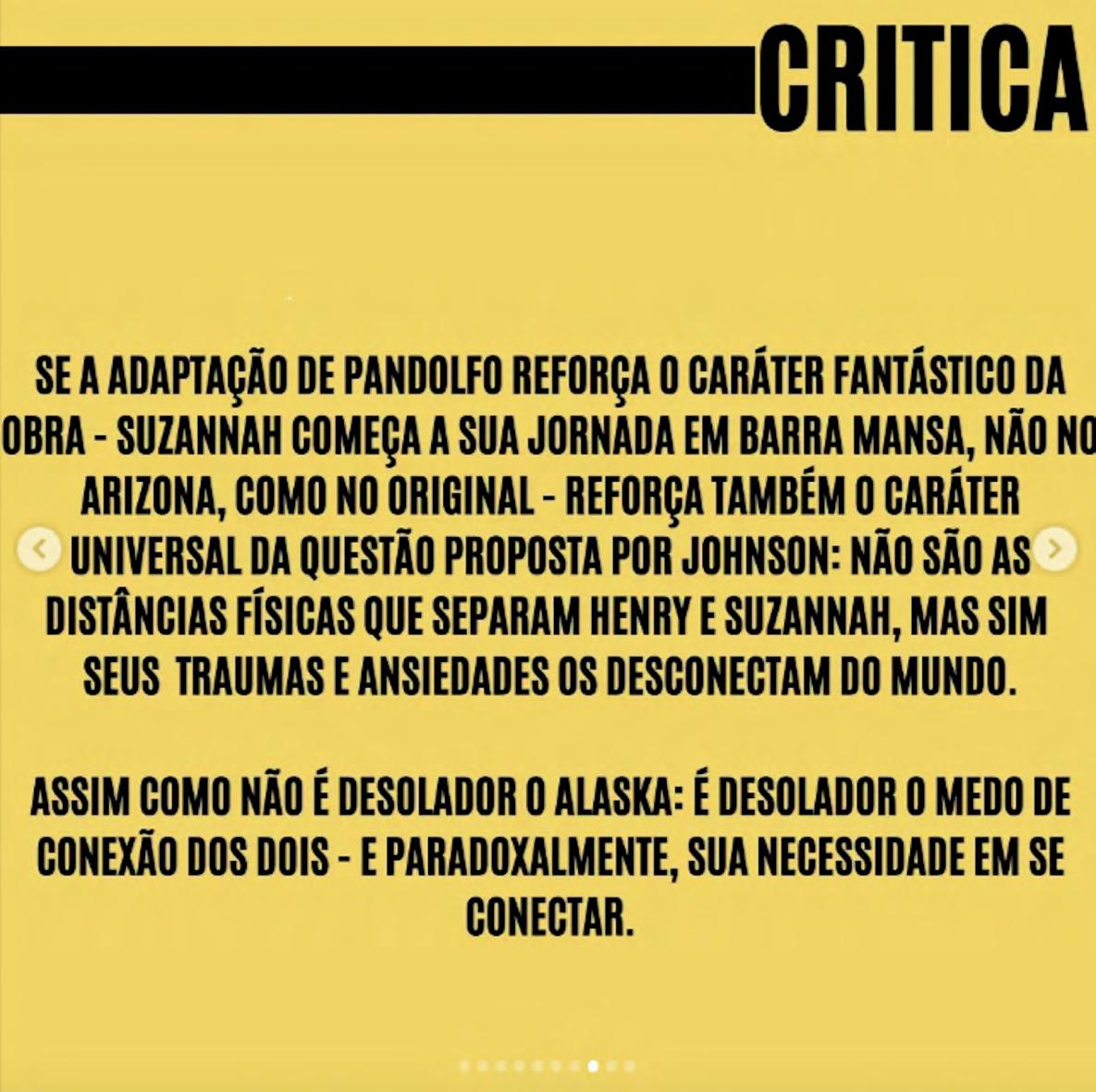
69
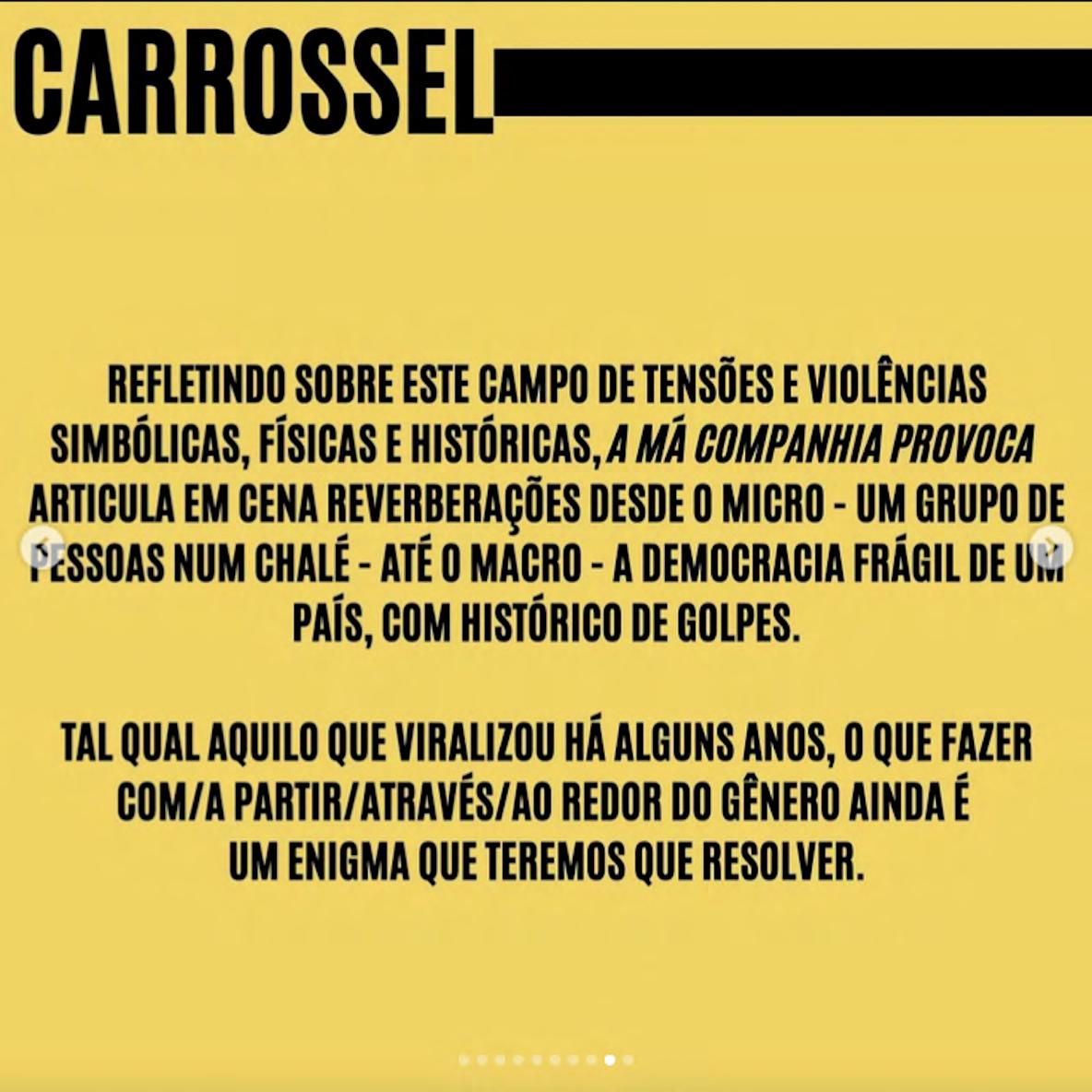
70

71
4 da Espécie - A História do Corpo Coisa Nenhuma
Texto e Direção: Michelle Ferreira
Diretora Assistente: Leticia Rodrigues
Elenco: Ivone Dias Gomes, Letícia Rodrigues, Lucia Bronstein, Maíra De Grandi, Maura Hayas, Renata Augusto e Renata Guida.
Direção de arte: Kleber Montanheiro
Desenho de luz: Claudia Di Bem
Desenho de som: Fernando Martinez
Novembro / 2022
Trilha original: Eric Budney
Sonoplastia: Michelle Ferreira
Preparação corporal: Maíra De Grandi
Assistente de Figurino: Marcos Valadão
Operação de Luz: Iaiá Zanatta
Operação de som: Tomé de Souza
Cenotécnico: Evas Carretero
Costureira: Salomé Abdala
Direção de Produção: Gustavo Sanna
Assistente de Produção: Raphael Carvalho
Assessoria de Imprensa: Pombo Correio
Fotos e vídeos: Laerte Késsimos
Programação Visual: Maura Hayas
Provocadora: Flávia Strongolli
Idealização e Produção Geral: A Má Companhia Provoca
72
73

 Foto: Andre Nicolau
Foto: Andre Nicolau
5 Alaska

76

77
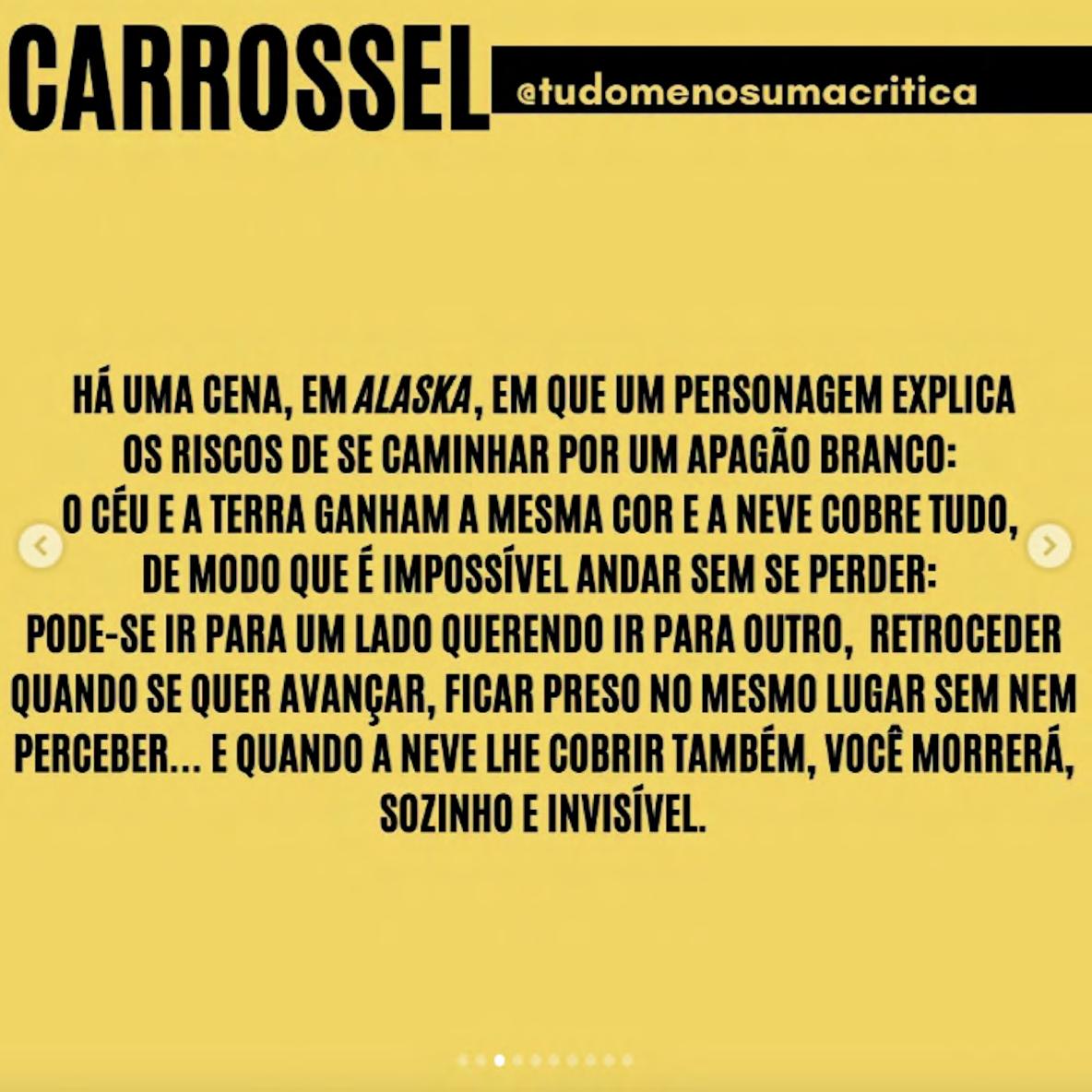
78
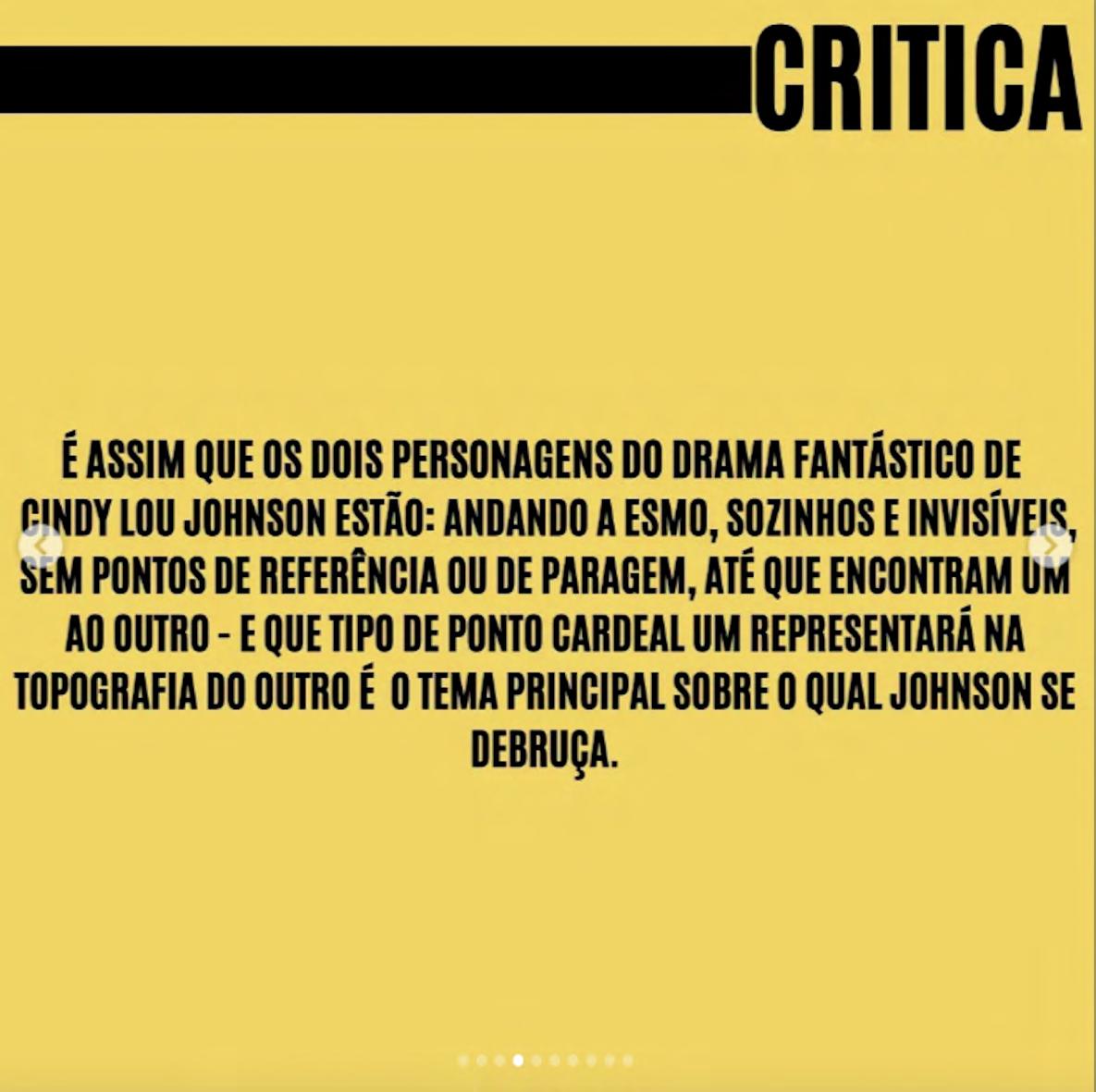
79
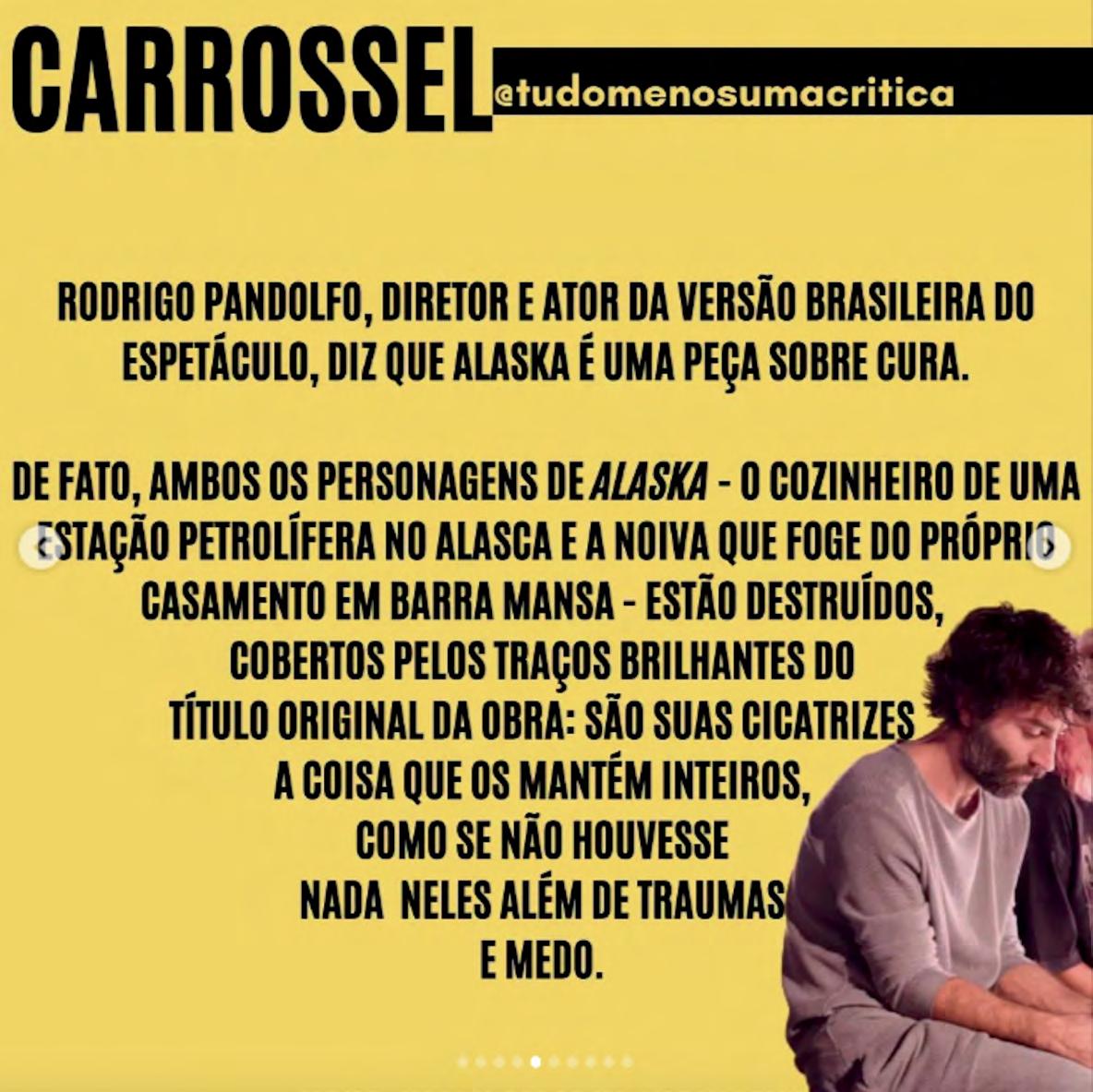
80

81

82
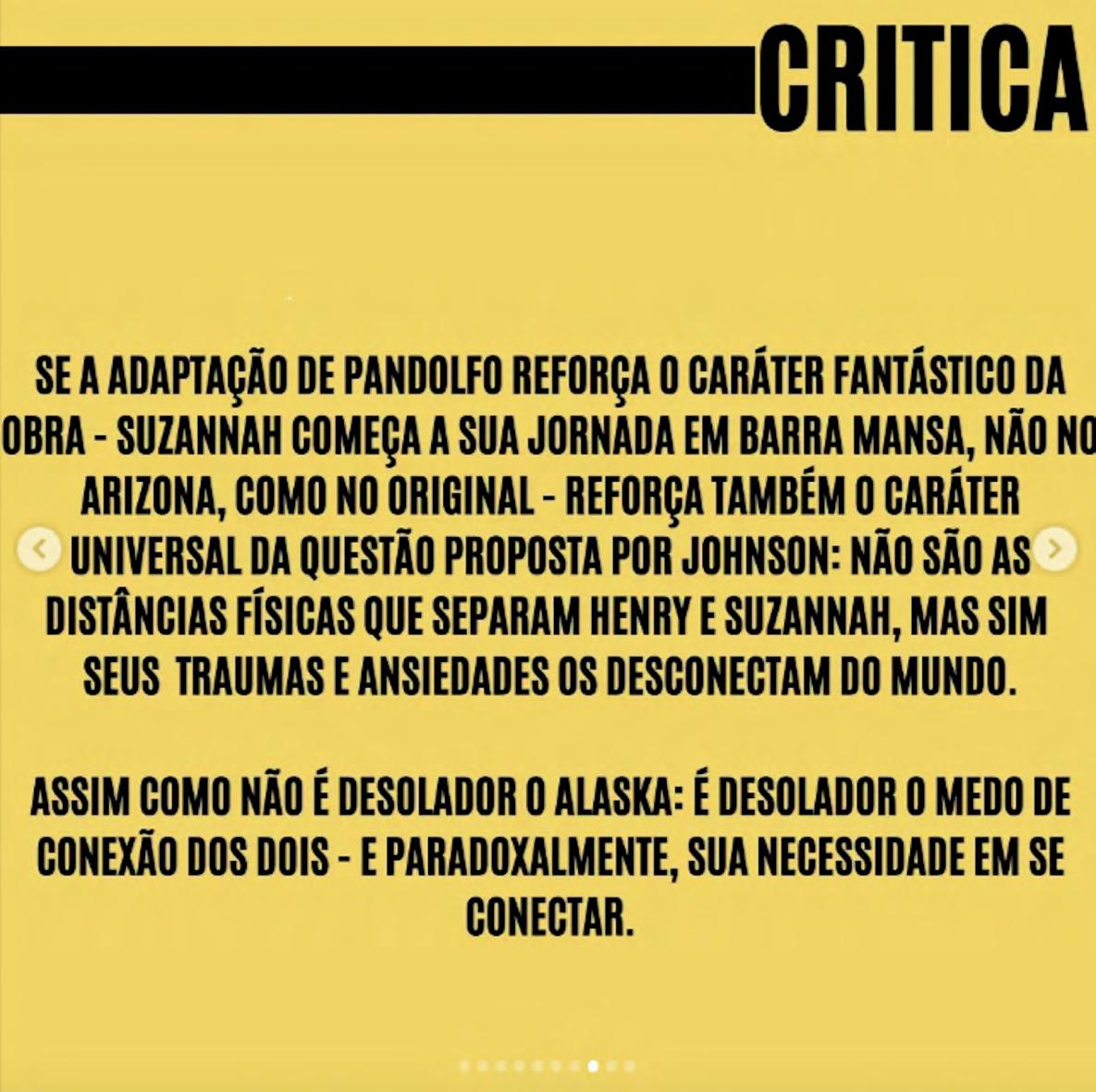
83
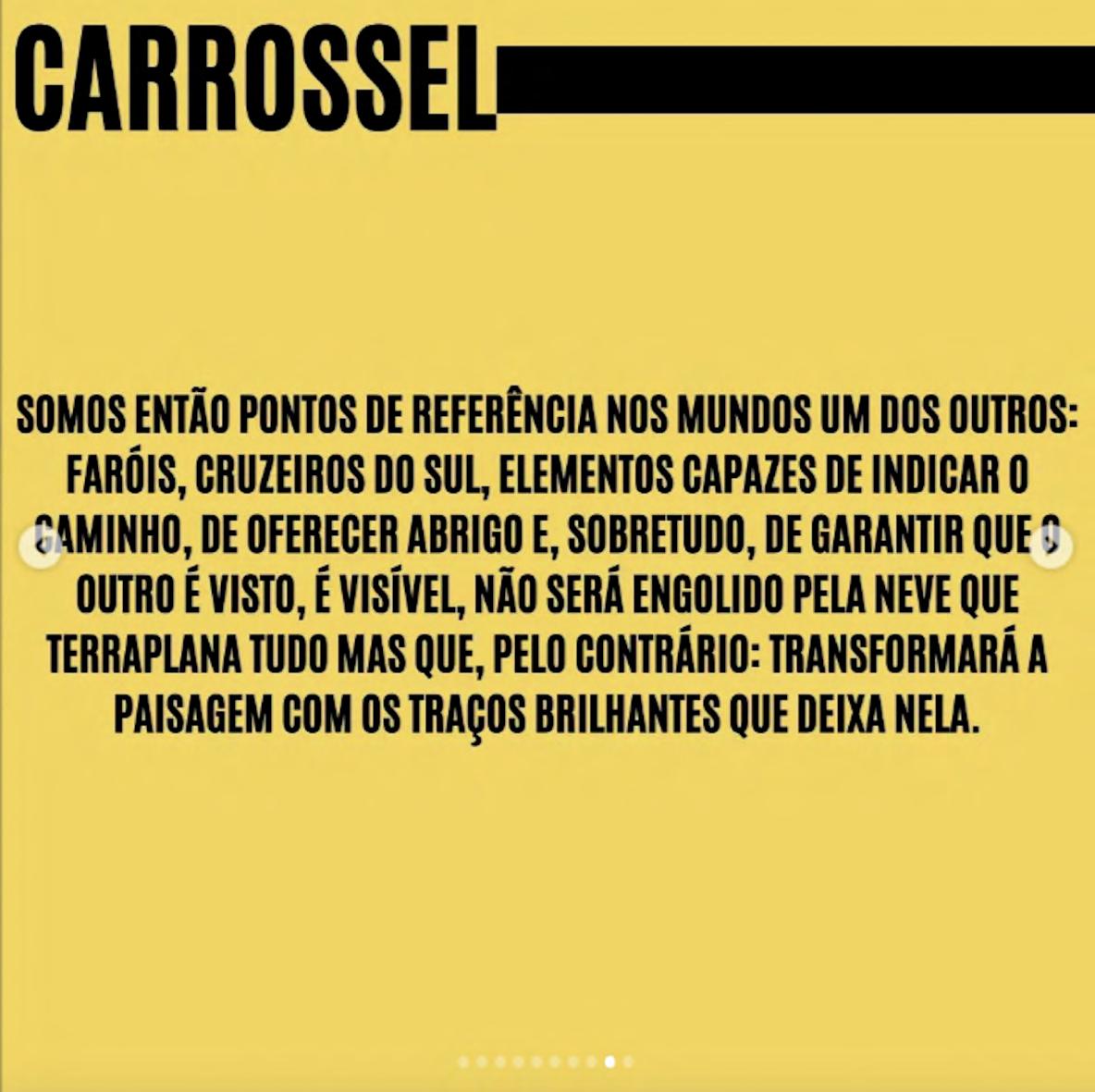
84

85
Alaska
Autor: Cindy Lou
Johnson
Título original: Brilliant
Traces
Tradução: Luiza Vilela
Direção: Rodrigo Pandolfo
Elenco: Louise D’tuani e Rodrigo Pandolfo
Contrarregragem performática:
Gab’s Ambròzia e Canafístula Lima
Assistente de direção:
Rael Barja
Dezembro / 2022
Preparação corporal: Ana Paula Lopez
Cenografia: Miguel Pinto Guimarães
Desenho de luz: Wagner Antonio
Figurinos: Jay Boggo
Trilha sonora: Azullllllll
Operador de luz: Dimitri Luppi
Operadora de som: Jéssica Silva e Alírio Assunção
Cenotécnico: Bruno
Portela
Fotografias: Patrícia Cividanes e André Nicolau
Identidade visual: Patrícia Cividanes
Assessoria de imprensa: Equipe D Comunicação – Berê
Biachi e Canal Aberto – Márcia Marques
Produção: Corpo Rastreado – Leo Devitto
Administração: Os Satyros.
86
87


Desmonte
Foto: Hugo Honorato

90

91
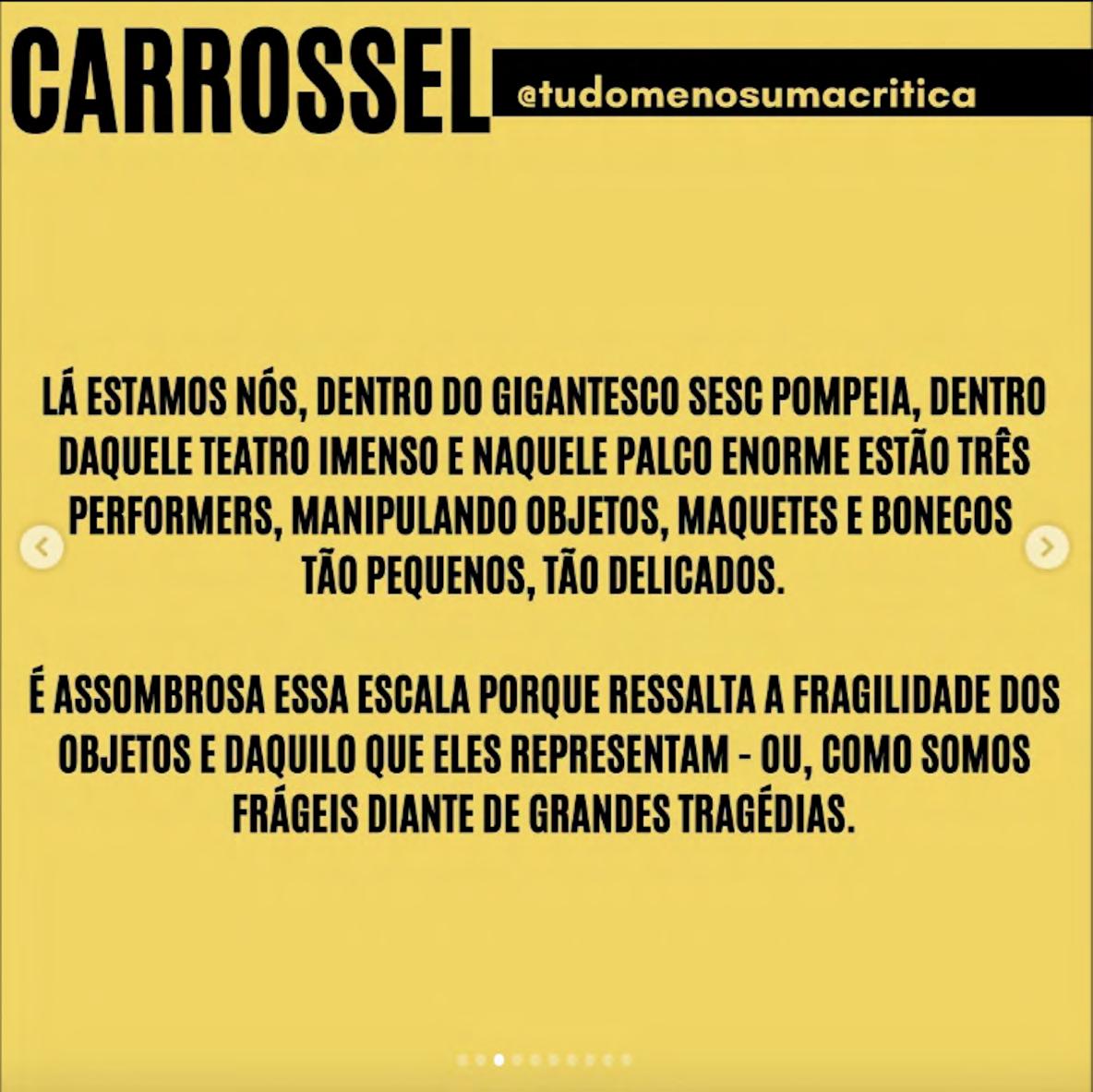
92

93

94
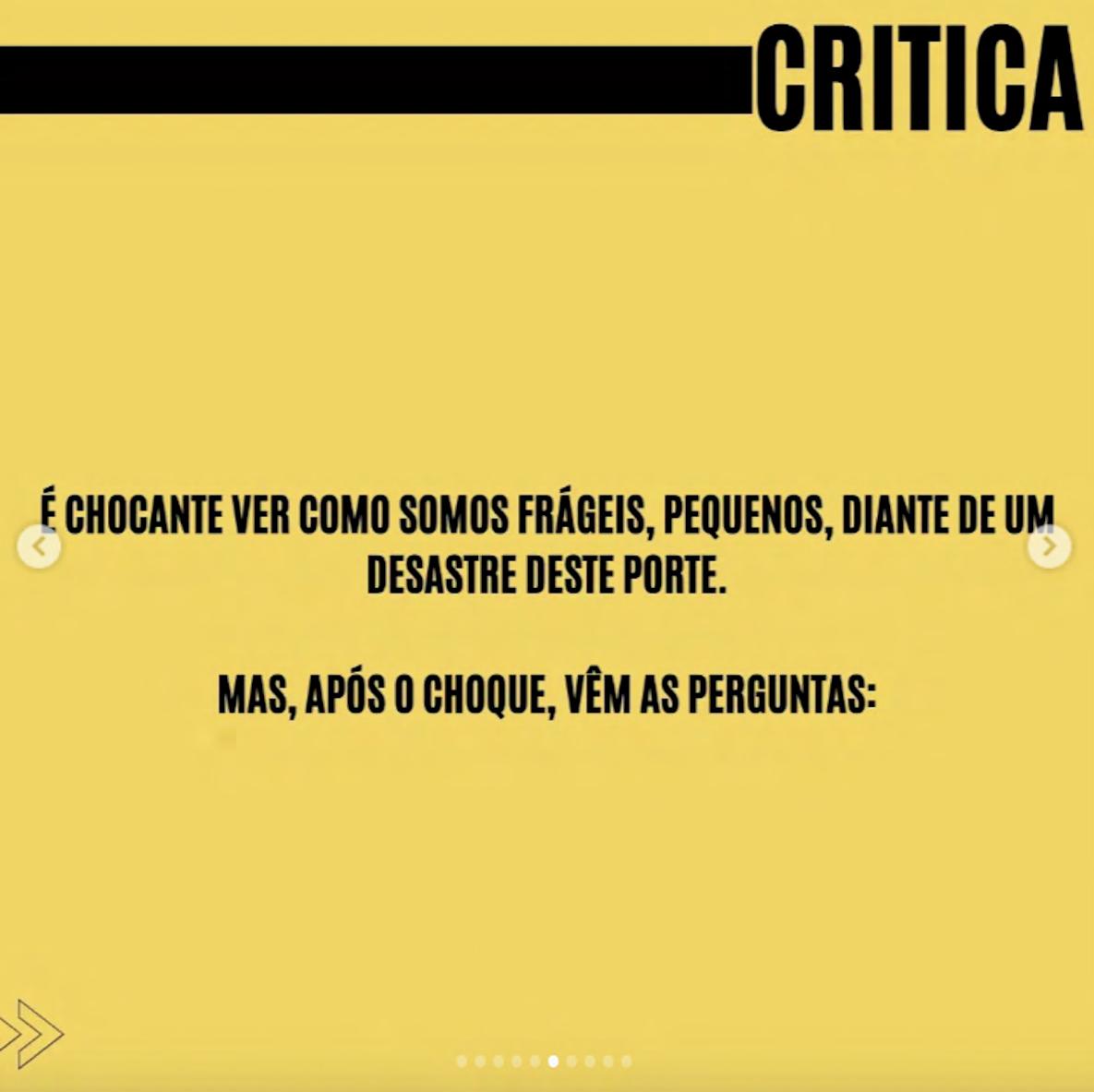
95

96

97

98

99
Desmonte
Realização: Grupo
Girino
Direção e dramaturgia: Tiago Almeida
Elenco: Iasmim Marques, Kely Daiana e Marco Aurélio Bari
Trilha sonora: Daniel
Nunes
Iluminação: Pedro
Paulino e Richard
Zaira - Cia Tecno
Direção de arte: Taísa
Campos
Construção de
Dezembro / 2022
bonecos: Gustavo Campos (Ed)
Construção de maquetes e miniaturas: Gustavo Campos (Ed), Iasmim Marques, Igor Salgado, Kely de Oliveira, Marco Aurélio Bari, Taisa Campos e Tiago Almeida
Pintura e acabamentos: Igor Salgado
Assistência de ateliê: Amanda Porto e Yuri Victory
Figurino e Maquiagem: Iasmim Marques
Consultoria técnica
audiovisual: Guilherme Pedreiro e Daniel S. Ferreira
Produção executiva: Iasmim Marques
Produção: Marcela Rodrigues
Filmagem: Limonada
Audiovisual
Fotos: Hugo Honorato
100
101

102
ruína acesa
o ruína acesa foi criado em abril de 2017 por Amilton de Azevedo com o intuito de ser uma plataforma de crítica cultural inicialmente voltada apenas à obras teatrais, durante a pandemia também passou a acolher textos sobre trabalhos virtuais, filmes e séries.
manter a ruína acesa. a ideia que o nome do projeto carrega traz consigo uma referência à efemeridade do teatro: uma chama que consome à si mesma. a escrita crítica emerge, então, como possibilidade não apenas de registro, mas de recriação da obra. assim, ruína acesa é uma possibilidade de reverberar acontecimentos cênicos; analisando-os criticamente a partir de suas próprias propostas. a crítica configura-se, assim, como diálogo, reflexão e, fundamentalmente, como cúmplice do fazer artístico.
103

Erupçãoo Levante ainda não

terminou
Foto: Renato Coelho
evocar em corpo-cruzo uma cartografia tectônica
Por Amilton De Azevedo
“(…) o caboclo das Sete Encruzilhadas permanece sendo um poderoso intelectual brasileiro. Nunca achei mera coincidência que seu brado insubmisso tenha sido lançado no aniversário da Proclamação da República. Seu protesto gritado na ventania, suas flechas atiradas na direção da mata virgem clamam por uma aldeia que reconheça a alteridade, as gramáticas não normativas, as sofisticadas dimensões ontológicas dos corpos disponíveis para o transe, a generosidade dos encontros, as tecnologias terapêuticas e populares do apaziguamento das almas pela maceração das folhas e pela fumaça dos cachimbos do Congo. É ainda o brado mais que centenário do caboclo das Sete Encruzilhadas que joga na cara do Brasil, como amarração, nosso desafio mais potente: chamem os tupinambás, os aimorés, os pretos, os exus, as pombagiras, as ciganas, os bugres, os boiadeiros, as juremeiras, os mestres, as encantadas, as sereias, os meninos levados, os pajés, as rezadeiras, os canoeiros, as pedrinhas miudinhas de Aruanda. Chamem todas as gentes massacradas pelo projeto colonial (e cada vez mais atual) de aniquilação. A pemba risca os ritos desafiadores de afirmação da vida.” (Luiz Antonio Simas em O corpo encantado das ruas)
Temperos, terra e outras matérias em pó marcam chão e ar como pembas riscam terreiros. Corpos vibram.
106
Convocam de seus centros a energia vital que faz do mundo tremor e movimento. A coletivA ocupação faz de cada molécula de cada corpo e de cada centímetro do espaço cênico do Sesc Avenida Paulista um vulcão ativo em Erupção – o Levante ainda não terminou (2022). Alinhados em coro, transformam-se em uma maré de lava que avança de costas, à contrapêlo da História. De onde se espera destruição, emerge Tituba, primeira voz ancestral dentre as tantas evocadas pela encenação.
Se a palavra de ordem em Quando Quebra Queima (2018), primeiro trabalho do grupo, era ocupação, Erupção é uma visão que parte da história – esse profeta com o olhar voltado para trás, que, pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que será, como escreve Eduardo Galeano – para lançar no devir processos de retomada.
Assim como no espetáculo-acontecimento anterior, desde o início, são os corpos pulsantes que dizem mais do que as palavras. Da mesma forma, a coletivA ocupação traz a emergência de corpos cansados de não serem ouvidos; de corpos exaustos por sua invisibilização. Corpos que entendem que não precisam pedir licença para existir. Mas em Erupção – o Levante ainda não terminou, seus corpos-vivências expandemse enquanto signos para além de si; tornam-se corposcavalos de vozes históricas, míticas, místicas e de forças da natureza.
107
Sob a direção de Martha Kiss Perrone, Erupção é criação eminentemente coletivA, como pode se verificar na própria tessitura da cena e confirmar pela organização da ficha técnica: a dramaturgia é creditada, nesta ordem, à coletivA ocupação, Ícaro Pio, Lilith Cristina (ambos também performers-criadores) e Perrone. Há também a banda coletivA e as frentes – Corpo coletivA, Música coletivA, Dramaturgia coletivA, Visualidades coletivA – compostas tanto por performers-criadores quanto por colaboradores.
Nesta lida com uma miríade de cosmogonias e narrativas, Erupção estrutura-se enquanto uma ambiciosa empreitada da coletivA. Ao encenar tempos e ventos, performers-criadores são corpos-encantades, corpos-magmas, corpos-mares, corpas-ancestrais. Assim, ainda que partindo de acontecimentos históricos, este Levante que ainda não terminou parece se desdobrar em eras geológicas, movimentando profundezas de um mundo em contínua (trans) formação.
Se por vezes a apreensão do todo do discurso corre o risco de escapar pelos dedos, a todo momento é possível sentir as mudanças climáticas do espaço cênico. Corpos, corpas, música, palavra e iluminação são terremotos e tempestades nesta Erupção constante. Festa e guerra, alegria e angústia, prazer e dor, polos aparentemente binários, são como placas tectônicas em seus movimentos convergentes, divergentes e transformantes.
108
Nesta cartografia de levantes, o tremor necessário para fazer emergir vulcões faz da lava representação precisa do suor dos condenados da Terra; dos excluídos das terras. O movimento espiralar da coletivA se desenvolve na efetivação de uma gira cênica onde as revoltas do passado são pulsações ancestrais na direção de futuros possíveis. Os ventos ensinam, como diz um velho provérbio dos congos, que os pássaros têm asas porque elas lhes foram passadas por outros pássaros (Simas e Luiz Rufino em Encantamento: sobre política de vida)
Depois de ocupar tudo, a coletivA parece ter feito das ruas de asfalto e clareiras nas matas seus territórios de escavação e invenção. E conforme aponta Simas (em O corpo encantado das ruas), precisamos de corpos fechados ao projeto domesticador do domínio colonial, que não sejam nem adequados nem contidos para o consumo e para a morte em vida. Precisamos de outras vozes, políticas porque poéticas, musicadas; da sabedoria dos mestres das academias, mas também das ruas e de suas artimanhas de produtores de encantarias no precário.
O projeto agregador que se materializa em Erupção busca evocar essas outras vozes, fazer confluir as sabedorias e as artimanhas na escolha por trabalhar na direção do reencantamento do mundo. E o encantamento enquanto manifestação da vivacidade expressa no cruzo entre naturezas e linguagens, está implicado na dimensão da comunidade e do rito
109
(Simas e Rufino em Encantamento: sobre política de vida). Por isso, talvez, a coletivA opere precisamente neste cruzo.
A pedagogia das encruzilhadas é versada como contragolpe, um projeto político/epistemológico/ educativo que tem como finalidade principal desobsediar os carregos do racismo/colonialismo através da transgressão do cânone ocidental. Esse projeto compreende uma série de ações táticas que chamamos de cruzos. São essas táticas, fundamentadas nas culturas de síncope, que operam esculhambando as normatizações. Os cruzos atravessam e demarcam zonas de fronteira. Essas zonas cruzadas, fronteiriças, são os lugares de vazio que serão preenchidos pelos corpos, sons e palavras. Desses preenchimentos emergiram outras possibilidades de invenção da vida firmadas nos tons das diversidades de saberes, das transformações radicais e da justiça cognitiva. (Simas e Rufino em Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas)
Quando a coletivA ocupação faz des performers corpos-cruzos na evocação de forças que desenham em Erupção uma cartografia tectônica, a encenação apresenta uma espécie de potência místico-dialética, onde a presença de entidades e encantades não se descola da materialidade histórica, compreendendo o rito como dimensão comunitária e organizador de sociedades plurais.
110
Para muito além dos nomes próprios escutados na cena, de líderes de revoltas à avôs e avós des performers-criadores, a Erupção é fundamentalmente coletiva e coletivizante. Nas composições cênicas, o coro é uma constante. Em coreografias, o movimento uníssono é contaminado por vibrações em diferentes frequências que emanam de cada corpo que pulsa. Nos cruzos habitados pela coletivA, emergem as tantas possibilidades de invenção de vida.
Em todas as camadas de Erupção assenta-se um tempo espiralar, um tempo que não elide as cronologias, mas que a subverte (Leda Maria Martins em Performances do tempo espiralar). A batida sincopada dos tambores coexiste com os beats eletrônicos na trilha assinada pela Frente de música coletivA e DJ Shaolin. Nos figurinos de Juan Duarte, tradição e cotidiano friccionam-se em farrapos que sustentam um fluxo que atravessa tempos e espaços. A iluminação de Benedito Beatriz faz do teto um céu onde atmosferas dançam ao mesmo tempo em que lasers desenham e recortam a cena, algo entre a cultura de festas underground da cidade de São Paulo e uma perspectiva (afro)futurista.
Correndo em círculos, es performers-criadores fazem ventar dentro do espaço. No rodar desta gira, movimentam as cinzas de uma distopia passada e presente; o processo civilizatório e seus projetos coloniais, suas opressões, supressões, violências. Raça, gênero, classe, cultura, sociedade. A coletivA ocupação
111
transborda em lava para guerrear, festejar, destruir, reconstruir e reencantar mundos. Erupção espalha as cinzas como quem semeia o solo para plantar futuros.
Erupção - o Levante ainda não terminou
Performance e criação: Abraão
Kimberley, Akinn, Alicia Esteves, Alvim Silva, Ariane Aparecida, Benedito
Beatriz, Dj Shaolin, Ícaro Pio, Lara Júlia
Chaves, Letícia
Karen, Lilith Cristina, Marcela Jesus, Marcéu Maria Fernandes, Mel Oliveira, Matheus Maciel, PH
Veríssimo Direção:
Martha Kiss Perrone
Dramaturgia: Ícaro
Pio | Lilith Cristina |
Martha Kiss Perrone
Novembro / 2022
Iluminação: Benedito Beatriz
Direção de movimento: Ricardo Januário
Colaboração corporal: Castilho
Som: DJ Shaolin | Frente Música coletivA
Colaboração musical: Anelena Toku | Rafael Coutinho
Figurino: Juan Duarte
Assistência de Fig-
urino: Marcela Akie
Coordenação de palco: Jaya Batista
Direção de arte: Frente Visualidades coletivA
Preparação vocal: Abraão Kimberley
Produção: Corpo Rastreado - Gabs
Ambròzia | Paula
Serra
Difusão: Corpo a Fora
Residência: Casa do Povo
112
113

Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro...

ã o
Foto: Everson Verdi
a coragem do nós
Por Amilton De Azevedo
Talvez um dia o poeta tenha seus corações ardentes. Talvez o mundo tenha. Sim, o mundo precisará de corações ardentes, de estrelas luminosas e de jovens cheios de disposição e vigor, quando terminar a guerra e se restabelecer a paz. Corações jovens, mentes jovens e corpos jovens farão o mundo jovem novamente. (Stig Dagerman, A política do impossível)
Uma célula revolucionária desenha seus planos de convencer corações e conquistar nações. Conclamam pelo apoio popular, mas quando uma representante do povo se apresenta como voluntária, recusam-se a atender a porta, desconcertados. O segundo espetáculo do Grupo Pano, Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução, é tradução cênica da sensação de seu coletivo criador e de toda uma parcela da população brasileira.
Na formalização de suas próprias angústias, jovens artistas questionam-se enquanto indivíduos e coletividades na busca de estruturar suas questões estético-políticas no decantar possível do diálogo entre diversas pesquisas de linguagens teatrais contemporâneas. O trabalho de estreia do grupo, Pano. Fim., trazia um distópico ocaso do próprio fazer cênico enquanto homenageava o teatro como o maestro
116
do invisível que é em sua organização em torno dos discursos que projeta, sintetiza e propõe.
Agora, Foi enquanto eu esperava amplia a distância focal entre sujeitos e objetos: se Pano. Fim. voltava seu olhar para as possibilidades e limitações da teatralidade em si, a nova obra do Grupo Pano parte das teatralidades do poder, mesmo enquanto resistência e dissidência, para refletir em torno das implicações de cada sujeito nas lutas e revoluções dos tempos que correm, compreendendo a necessidade de problematizar caminhos percorridos e convocar à imaginações radicais na direção de futuros mais prósperos e harmônicos.
Na encenação que inaugurou o Grupo Pano, já se questionava a função do artista diante do fracasso das sociedades capitalistas contemporâneas. Agora, com igual transparência e grandes doses de ironia, o coletivo encampado pelo diretor e dramaturgo Caio Silviano aborda a função social possível do jovem artista burguês diante das necessidades revolucionárias para a transformação do mundo ocidental contemporâneo.
(…) é preciso se rebelar, atacar o sistema mesmo sabendo que – e esse talvez seja o grande dilema dos socialistas de hoje –, tragicamente , qualquer defesa ou ataque não são nada mais que simbólicos, mas devem ser feitos assim mesmo, pelo menos para que ele não se envergonhe de não o haver feito. (Stig Dagerman, A política do impossível)
117
Foi enquanto eu esperava é uma demarcação incisiva do coletivo na percepção de que tudo é passível de questionamento – discursos ideológicos, bases teóricas e produções estéticas parecem todos balançar na dinâmica da encenação. O Grupo Pano compreende o locus social de sua instituição enquanto coletividade teatral na cidade de São Paulo e toda a reflexão proposta pela obra é indissociável dos marcadores sociais que atravessam sua composição – que não escapa, nem nega, de sua constituição majoritariamente branca e burguesa. Ao mesmo tempo, o cinismo comum a trabalhos de pretensa autocrítica aqui encontra uma estrutura onde pode navegar com certa tranquilidade.
Isso porque texto e cena, sob a batuta de Silviano, dialogam em seus fluxos de discurso e linguagem numa forma que resulta no trânsito entre expedientes reconhecíveis, com referências nítidas – intencionais ou não – a outros trabalhos e reflexões, e um encontro singular de proposições que friccionam diversos graus de representação e ficção em sua composição.
Entre narradores, personagens e personas, Foi enquanto eu esperava faz de seus intérpretes artífices de tentativas de transformação diante da inóspita realidade. Enquanto o horizonte se coloca cada vez mais estreito, buscam fazer de suas ações àquelas dignas de corações ardentes, cheias de disposição e vigor, ainda que tateando as possibilidades de efetivamente concretizá-las enquanto Ato. Na lida com
118
suas agências enquanto seres políticos, deparamse com as limitações que se impõem diante de suas utopias.
A política foi definida como a arte do possível. Parece ser uma definição adequada. O possível é, na verdade, o mínimo pensável. Crer nele significa ter feito uma censura preventiva sobre a possibilidade do risco, da esperança e do sonho. No mundo do possível , o ser humano é apenas um prisioneiro do medo e da indiferença. Diante do possível, ele é tão impotente quanto diante da morte. (Stig Dagerman, A política do impossível)
No teatro, não há – ou não deveria haver – espaço para a indiferença. O mínimo pensável é muito pouco, e assim acaba também por ser o próprio possível. Talvez seja esse o motivo para o Grupo Pano trazer à cena palhaços, bufões, bebês, poetas antigos e a ânsia do novo: para que se possa encarar cada triunfo e cada derrota com o mesmo invulnerável sorriso, como propõe Stig Dagerman e sua política do impossível, citado ao longo deste texto e também no assinado por Silviano no programa do espetáculo. Porque insensatez é aceitar o possível.
Há em Foi enquanto eu esperava a sensatez de ir além: a coragem de propor um nós. Mesmo diante dos fracassos, há um alvorecer que se anuncia, ainda que oculto pelas nuvens que impedem o vislumbre de caminhos certos. Derrubam-se cânones artísticos
119
e referências antigas, na compreensão de que muito ainda há por se inventar – na vida, na labuta, na luta.
Sempre se demoliram casas e as pessoas sempre choraram pelos tijolos derramados. Sempre foi difícil entender isso, mas um dia também vão chorar quando o novo prédio ficar velho e for demolido. (Stig Dagerman, A política do impossível)
Na metateatralidade insistente do Grupo Pano, cuja pesquisa de linguagem parece verticalizar-se na direção das possibilidades de diferentes enquadramentos ficcionais em sua prática épico-narrativa, lançando mão inclusive de uma falsa performatividade para construir relações entre cena e público, debatem-se as distintas aproximações entre teatro e sociedade, entre indivíduo e coletivo, entre história e subjetividade. Não se trata de ignorar referências e circunstâncias, mas de compreender que a dialética se constitui no tempo presente; a prática é o critério da verdade.
Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução
Direção e Dramaturgia: Caio Silviano
Elenco: Alice Guêga, Amanda Quintero, Bernardo Bibancos, Cecília Barros, Henrique Reis, Juliano
Veríssimo e Rafael Érnica
Direção de Arte e Design Gráfico: Cecília Barros
Adereços: Amanda
Quintero e Bruno Britto Chiomento
Máscaras: Rafael Érnica
Iluminação: Lui Seixas
120
Operador de Luz: Bruno Camargo
Trilha Sonora e Música: Grupo Pano
Fotos de divul-
gação: Vinicius
Aguiar
Novembro / 2022
Assessoria de Imprensa: Nossa
Senhora da Pauta
Produção: Grupo Pano e Anayan
Moretto
Apoio: Turma do
Bem, Grupo Redimunho de Teatro, Planeta’s, Piolin e Luna di Capri
Realização: Grupo
Pano
121


Desmonte
Foto: Hugo Honorato
cada vida pequeno universo
Por Amilton De Azevedo
Na tarde de 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), controlada pela Samarco (um empreendimento conjunto da Vale S.A. e da BHP), vitimou dezoito pessoas – e uma segue desaparecida. O desastre industrial é, ainda, considerado o causador do maior impacto ambiental na história do país. Menos de duzentos quilômetros e quatro anos separam esta tragédia de outra: em 25 de janeiro de 2019, a barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), controlada pela Vale S.A., também se rompeu, causando a morte de 270 pessoas no que se tornou o maior acidente de trabalho do Brasil. No início do espetáculo Desmonte, do Grupo Girino (MG), um letreiro traz alguns destes dados para dimensionar tais acontecimentos. Serão as únicas palavras apresentadas na obra; tudo o mais será dito em imagens através de movimentos, sons, objetos e projeções.
Os dois desastres foram amplamente cobertos pela mídia, e dificilmente algum espectador de Desmonte não se lembre da comoção nacional nos períodos. Mais do que denunciar os crimes da Vale S.A. (cujo nome não é citado diretamente), o Girino parece intencionar a evocação da memória, compreendendo o assombro como afeto possível a partir da tessitura de uma fricção entre dramaturgia visual e sonora. Desmonte constrói
124
retratos por trás dos números; resgata as tantas dimensões das tragédias contando da imensidão das miudezas. No palco, pequenos nichos são amplificados pela mediação de câmeras, no encontro entre teatro de objetos, teatro visual e live cinema.
A narrativa da encenação caminha do cotidiano à fantasmagoria; das vidas e rotinas comezinhas ao pós-lama. O Girino faz do vídeo o ponto focal, criando composições imagéticas na lida com a relação entre performer visual (utilizando o termo do professor Wagner Cintra), bonecos, máscaras, cenários, objetos, documentos e materiais brutos. Ao mesmo tempo, a iluminação, ainda que conduzindo o olhar para os pontos de atenção, permite ao espectador acompanhar a construção no palco não só daquilo que se vê projetado, mas a preparação para os próximos enquadramentos e a lida com os vestígios antes vistos. Nesse sentido, impressiona a organização múltipla e a precisão na manipulação das materialidades cênicas.
É curioso notar que o encontro entre a pesquisa de linguagem desenvolvida pelo Grupo Girino – fundado em 2006, com trajetória consolidada dentro da cena do teatro de animação brasileiro – e a temática do presente trabalho gera uma série de implicações na maneira que o conteúdo se apresenta na estrutura (e vice-versa): a forma resultante carrega, no trânsito entre as dimensões macroambientais e a singularidade de cada vida então perdida, entre o tamanho dos performers visuais (Iasmim Marques, Kely Daiana e
125
Marco Aurélio Bari) e a miudeza dos bonecos e objetos, uma certa tensão que vai além da relação palco-tela.
A presença de recursos audiovisuais é cada vez mais comum nas teatralidades contemporâneas. Porém, parece inevitável refletir em torno de seus usos e significados. Fica evidente o posicionamento do Girino e é nítido que a escolha da utilização de tais recursos está inteiramente conectada às suas pesquisas cênicas; ao mesmo tempo, o que é uma câmera que registra de perto a dor de uma tragédia? Para além da delicadeza dos modos encontrados pelo grupo para levar ao palco belezas (ainda que tristes) e assombros, as manchetes que se pode ler em um dos catitos cenários pode lançar, de algum modo, o espectador a refletir em torno da cobertura de catástrofes – tão comuns em todos os noticiários brasileiros – em uma sociedade hipermidiatizada.
Nesse sentido, a técnica apurada percebida em Desmonte – não apenas ligada às formas animadas mas também nos enquadramentos e edição ao vivo dos movimentos da cena no vídeo projetado – poderia trazer consigo uma espécie de fetichização de tais recursos de linguagem. Porém, ainda que em certos momentos possa haver um interesse maior da atenção do espectador no como o que está sendo apresentado está sendo construído, correndo o risco de gerar uma certa alienação, a direção e a dramaturgia de Tiago Almeida parece ciente de tais questões.
126
Na trajetória de Desmonte, enquanto acompanhamos o silêncio da imensidão das miudezas onde figuras sem nome vêem suas rotinas sendo subitamente atravessadas pelo volumoso caos de rejeitos, há um movimento na direção do terror – atmosfera construída e sustentada também pela trilha sonora de Daniel Nunes. O espetáculo traz momentos de um delicado realismo – dentro das convenções estabelecidas pela linguagem – nas ações dos bonecos dentro das bonitas maquetes. Aos poucos, tudo que era vida vai encontrando morte. A lama invade as casas e as pessoas. As materialidades cênicas dão lugar à fantasmagoria de máscaras e gestos dos performers visuais movendo suas dores, efetivando-se como duplos dos objetos inanimados; são eles, também, corpos sem vida, ausências presentificadas, silêncios soterrados.
Em Diante da dor dos outros, Susan Sontag nos lembra “que mostrar o inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno”. No trabalho do Grupo Girino, a denúncia é formalizada em angústia, desconforto e incômodo de forma efetiva dentro do que se propõe. Mas Desmonte também nos lembra do que significam os números de tragédias: cada vida pequeno
127
Desmonte
Realização: Grupo
Girino
Direção e dramaturgia: Tiago
Almeida
Elenco: Iasmim
Marques, Kely
Daiana e Marco
Aurélio Bari
Trilha sonora: Daniel
Nunes
Iluminação: Pedro
Paulino e Richard
Zaira - Cia Tecno
Direção de arte:
Taísa Campos
Construção de
Dezembro / 2022
bonecos: Gustavo Campos (Ed)
Construção de maquetes e miniaturas: Gustavo Campos (Ed), Iasmim Marques, Igor Salgado, Kely de Oliveira, Marco Aurélio Bari, Taisa Campos e Tiago
Almeida
Pintura e acabamentos: Igor Salgado
Assistência de ateliê: Amanda Porto e Yuri Victory
Figurino e Maquiagem: Iasmim Marques
Consultoria técnica
audiovisual: Guilherme Pedreiro e Daniel S. Ferreira
Produção executiva: Iasmim Marques
Produção: Marcela Rodrigues
Filmagem: Limonada Audiovisual
Fotos: Hugo Honorato
128
129

Retrospectiva 2022

retrospectiva 2022
Por Amilton De Azevedo incandescência
Um longo poema da criação diz que, certa feita, Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual delas levaria em uma viagem ao mercado. Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era palavra, a outra era o que nunca será dito. Exu pediu uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde este dia, remédio pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer e o silêncio pode fazer discursos vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado: nela mora a cultura. (Luiz Antonio Simas, em O corpo encantado das ruas)
UM COMEÇO
Deitado no chão em um entardecer vejo marte despontando no céu. Penso que pra mim ele é inatingível, para além de qualquer mensurabilidade. Aquele ponto está lá, existe, distante de nós uma enormidade, e pra essa reflexão pouco me importam dados e possibilidades que me digam que em breve
132
estaremos lá.
E então me lembro que mais cedo vi meu irmão no mesmo gramado fazendo subir um pipa e o céu era então dele ao mesmo passo que não, seu esforço era fazer do vento um aliado enquanto era também inimigo e aquele papel com aquela linha de fios de sacos plásticos combatia e irmanava-se com aquela infinitude de azul e nuvens.
Isso tudo era tão simples quanto complexo, um homem e um carretel de linha, e um céu e um infinito e marte à distância. São esses movimentos que me fazem começar essa reflexão, tendo como (única das) certeza(s) que para falar de teatro preciso me colocar enquanto ser no mundo, botar pra jogo como vejo tudo que me circunda; a vida, os vivos, os ventos.
ANTES DE MAIS NADA
Mais do que necessário, é honesto dizer que a construção deste texto parte de dois pontos focais. Duas publicações no Instagram. Além delas, de uma infinidade de conversas – principalmente com minha mãe, com quem tanto compartilho sobre o que vejo e penso e vice-versa. Também da provocação do querido Kil Abreu (um dos que primeiro me ensinou e tanto ensina e faz refletir sobre a crítica teatral) em um post no Facebook quando do lançamento do Projeto Arquipélago: é preciso que críticos perguntem a si mesmos, a si mesmas, sobre a relevância social do seu
133
trabalho. Em outras palavras: o que teríamos a oferecer à sociedade, se esta se coloca publicamente no apoio à nossa atividade? a crítica tem interesse público? Se sim, em que termos? Talvez cheguemos à conclusão que não, não tem interesse algum. É uma possibilidade. E é algo que talvez nos chame a avaliar o que se tem feito.
Não acho que uma retrospectiva como essa irá responder nada disso, mas é um bom registro em torno do que me mobiliza a escrever; a seguir escrevendo, seguir insistindo. Gosto de acreditar que no meu trabalho essa avaliação vai se construindo. Mas, sigamos: para essa incandescência – nome que criei no segundo ano do ruína acesa para apontar destaques (seja lá o que isso signifique) da cena teatral que seguem reverberando (e você pode acessar elas aqui: 2018, 2019, 2020, 2021) – penso que me movimento por dois caminhos que podem soar contraditórios, e que bom que seja assim.
(PR)A QUE SERVE UMA LISTA?
A primeira inspiração-provocação é uma publicação no formato de carrossel escrita por Ronaldo Serruya, legendado por uma pergunta: a quem interessa a superlativização das coisas? Na reflexão desenvolvida ao longo de dez cards, Ronaldo aponta para como superlativar é simplificar. E como essa tendência acaba por alinhar-se com a lógica neoliberal, meritocrática, individualista da sociedade contemporânea.
134
a gente precisa querer apenas estar atento ao tempo, com olhos de ouvir e ouvidos de ver o que os antigos sopraram e sopram e o que os que ainda virão sopram de lá do futuro. e sobretudo, o que nós estamos fazendo com todos esses sopros. (Ronaldo Serruya)
Citando o ativista espanhol Paco Vidarte e sua escritafaísca, Ronaldo nos lembra que melhor do que termos dissidências no topo é a própria destruição da ideia de topo. Em Ética Bixa, livro que o próprio autor chama de panfleto radical e fanzine libertário, Paco aponta que toda ética universal, no fundo, é absolutamente particular, é uma ética de classe, de povo escolhido, de héteros, de masculinos, de uma maioria que pretende impor uma ética particular – por muito majoritária que seja – a todos em seu próprio benefício e em prejuízo das minorias que não pertençam ao seu círculo de poder: a fundação ou a proclamação de uma ética sempre é uma operação de poder, de opressão, de controle social. Mais adiante, dirá que a única coisa que o poder quer é que nós pisemos no pescoço uns dos outros por diferentes motivos.
Insistentemente reafirmo a crítica como lugar de poder, ainda que muitas pessoas possam pensar que não, que nunca, ou que já não mais. Paco também diz que toda a força que sustenta o poder que governa o sistema social procede apenas das agressões cotidianas, pequenas, microscópicas, imperceptíveis que cada um comete quase sem se dar conta. E, ainda, mais próximo deste meu fazer, cada palavra, cada vocábulo, cada
135
significante, cada termo é revolucionário, é portador de conflito social, é portador de valores de uma classe, de um grupo, de determinados interesses. Cada palavra é um projétil, uma bomba, munição.
Voltando à publicação-projétil de Ronaldo: em qualquer análise, da política à cultural, a superlativização das coisas vai apequenando o quadro geral, invisibilizando toda a profunda cadeia diversa e rica de produção de discursos, de obras, de estratégias, de lutas. esse país é complexo demais. toda política feita aqui, toda arte feita aqui é complexa demais.
Não acredito que neste projeto de crítica, no ruína acesa, se incorra muito na superlativização; mas isso não me impede de refletir muito em torno dos apontamentos feitos por Ronaldo – não apenas lembrar da complexidade, mas encará-la. Por isso, ainda que por um momento tenha pensado em simplesmente não fazer uma lista, talvez apenas escrever algo semelhante à (anti)retrospectiva do ano passado, é fundamental frisar aqui: o intuito deste texto não é apontar as melhores nada. É a tentativa de estar atento ao tempo e construir registros daquilo que o rasga, considerando o que nós estamos fazendo com todos esses sopros.
Então, chegamos no segundo ponto focal que me move nesta (longa) introdução: a publicação de Juliano Gomes em torno da construção de uma lista de filmes para a revista inglesa Sight&Sound. Antes de divulgar os dez filmes apontados por ele para o ranking
136
The Greatest Films of All Time, Juliano compartilhou algumas reflexões em torno da própria ideia de lista, apontando que gera muito ruído em relação ao seu significado social como gesto (…) os parâmetros ficam confusos e ninguém parece saber bem do que se está falando, o que está em disputa ali.
A questão é entender como um gesto pode tentar produzir algum movimento. Olhar o contexto, imaginar os padrões, observar as peças em jogo, buscando imaginar uma aposta que promova ideias potencialmente férteis.
Vale a pena ler o texto do Juliano na íntegra, para além dos trechos que recorto e colo aqui. Ele insiste no resgate da exposição pública dessas apostas; sustentadas por ideias, argumentos e critérios, inclusive na direção de promover e discutir os motivos pelos quais arte e cultura importam. E defende que isso precisa ser um exercício público constante.
(…) me parece útil expor publicamente nossas apostas em termos de ideias, visões de mundo, valores que achamos importantes: escolher e assumir. Escolher e assumir, com argumentos para sustentar o valor – ou, talvez, a fertilidade – de obras que queremos inscrever nos tempos que nos cabe viver. Com a consciência de que nenhuma intervenção será perfeita e de que o trabalho nunca termina. Mais do que apenas apontar nomes, compreender, lançar luz, defender algumas das ideias em disputa do campo no processo cultural
137
brasileiro. Porque as ideias a gente pode contestar, discordar, incorporar, melhorar: é material público.
Assim, construo meu pensamento em diálogo com faíscas, projéteis, bombas e munições de Kil, Ronaldo e Juliano. Acredito que mais importante do que os nomes que serão apontados nos próximos parágrafos seja apresentar estes pontos de partida que antecedem a própria feitura desse texto. Essa incandescência de 2022 concorda com – e, espero, faça jus ao – final da reflexão de Juliano: eleger algo é dizer: dentre o que ainda existe, desejo que isso dure, pra fertilizar outras coisas no futuro. essa coisa de lista, especialmente se há ideias expressas junto, tem algo a ver com isso.
INCANDESCÊNCIAS OUTRAS
Olhar para o que já disse, e penso já ter dito muito ao mesmo passo em que há sempre muito a se dizer, me parece também relevante. Gabriel García Márquez dizia que todo escritor está sempre escrevendo o mesmo livro; talvez eu sempre escreva a mesma retrospectiva, as mesmas críticas – e não sei se isso é um mérito ou um fracasso. Sigo em movimento, tateando, compreendendo as possibilidades de se manter coerente mesmo na contradição; escolhendo as concessões dentro da consciência do sistema que nos contorna, circula, conduz, engole e ao mesmo tempo acreditando na força de fissuras e rupturas, mesmo que ínfimas. Assim, insisto. Então, compartilho alguns fragmentos:
138
Há um caráter inevitavelmente subjetivo na confecção de uma lista dos destaques do ano. Anterior mesmo à elencar os espetáculos, há a seleção feita ao longo do ano sobre quais assistir – levando em conta a dimensão da cena teatral de São Paulo, é impossível considerar que todas as obras postulantes à tal distinção tenham sido vistas. (2018)
Essa é uma lista que não dá conta da produção teatral feita fora do centro expandido da cidade de São Paulo. É uma lista que também fala das ausências e do que elas significam.
São muitos os grupos que, já há muito tempo, trazem a resistência em seu fazer diário. Ignorados pela crítica, por prêmios e por políticas públicas, seguem fazendo sua arte. Este é um lembrete para mim mesmo sobre a necessidade do deslocamento — literal e metafórico. (2019)
A incandescência deste 2020 olha para o que foi como quem tateia uma chama invisível na busca de compreender seu calor. (…) A incandescência é uma lista que não cansa de se afirmar insuficiente, subjetiva, relativa e sujeita a infinitas variáveis. Em premiações e retrospectivas, muitas vezes as ausências são o que há de mais significativo. (2020)
139
____________________________________
____________________________________
Seria um absurdo listar aqui destaques, considerando a dimensão da cena paulistana e brasileira e até mesmo internacional, no que diz respeito ao virtual. Esta incandescência é difícil, pois o que emerge na retrospectiva de 2021 é a ausência. O que pode, parafraseando o título de um texto de Kil Abreu, a crítica em tempos de morte? O que pude eu diante do que se apresentou?
(…) A crítica teatral ainda é um lugar de poder, e deve se assumir enquanto tal. Não enquanto exercício autoritário de juízos particulares, mas como espaço de reflexão e valoração. Seria irresponsável, neste contexto [de pandemia], destacar uma ou outra obra. Listas sempre revelam mais sobre seus autores do que sobre o que é listado. (2021)
No fundo, é isso: um constante dizer e dizer e desdizer e dizer. Me repetir dentro do que permanece, caminhar para além do que não mais. Talvez toda essa espécie de apresentação só faça sentido para a minha organização interna, mas cito mais uma vez Paco Vidarte:
Eu sou otimista e confio enormemente no poder do pequeno, das micropolíticas, dos efeitos imprevisíveis de tudo que faço, de cada linha que escrevo. Sei que
140 ____________________________________
____________________________________
noventa e cinco por cento de todos meus esforços acabam no lixo, se viram contra mim mesmo, não ofendem ninguém, não incomodam ninguém, não contribuem com ninguém, não geram nem uma pontinha das esperanças que eu tinha depositado neles, nunca correspondem às minhas expectativas. Mas, às vezes, quando há sorte, um paragrafozinho feito ao acaso, descuidadamente, um paragrafozinho de transição, nada importante, de recheio, desenha um sorriso em quem lê, desperta uma ideia maravilhosa em alguém, ganha vida própria e, suponho, acaba tendo algum efeito que não mudará o mundo, mas pelo menos, por alguns segundos, terá provocado um sorriso, terá suscitado indignação, terá gerado cumplicidade ou obtido solidariedades. (em Ética Bixa)
ENTÃO
Tudo isso posto, para que a lista aqui apresentada possa minimamente estabelecer-se como um gesto que almeja produzir um movimento, parece-me fundamental apresentar minimamente quais os parâmetros e critérios que amparam este meu olhar. Antes de pensar em quem se destaca, vale colocar de onde se vê e do que se destacam.
Uma mirada simples no acervo do ruína acesa permite perceber que o foco desta plataforma está lançado principalmente sobre 1) o sujeito teatro de grupo; e 2) artistas interessades no desenvolvimento de pesquisas de forma continuada. A cena observada
141
por mim é majoritariamente a produzida de forma independente, por ímpetos pessoais ou coletivos, geralmente fomentada por editais públicos e/ou pelo Sesc São Paulo. Em parte, é um problema; em outra, é circunstancial. Aliás, como escrevi em 2021, o problema é sempre a que serve aquilo que se produz dentro do mundo do capital, onde inevitavelmente existimos.
Dentro disso, quais são minhas expectativas e projeções em torno de uma produção cada vez mais plural, incerta, sem norte – no melhor dos sentidos – e, auspiciosamente, caótica? Hoje, recuso terminantemente pensar em melhor peça (como bem disse Juliano, acreditar em nomes fantasia é besteira) ou em qualquer afirmação superlativa e categórica.
Então, o que significa ser um destaque? Um post no instagram? Louros em um cartaz?
Qual a distância entre reconhecimento e legitimidade?
Tudo isso escrevi antes de efetivamente racionalizar os aspectos que estruturam essa retrospectiva. Novamente, disse muito quando muito já havia sido dito. Mas vamos lá. Dentro do recorte acima apresentado, acredito que as obras aqui apontadas de algum modo desdobram questões de formas específicas – não necessariamente novas, mas cujas singularidades podem reverberar, criar ressonâncias e fertilizar campos de possíveis.
142
DA LISTA
Na lista que sucede (em breve, prometo) esses escritos, é possível notar alguns aspectos dignos de nota: não há encenações das dramaturgias consideradas clássicas, atemporais, universais; confesso que cada vez mais desconfio destas nomenclaturas, especialmente da última. Ecos de Shakespeare e Brecht, assim como colagens de textos e documentos, inspirações e adaptações estão entre as obras aqui destacadas; o que sobressai-se, porém, é a presença de construções dramatúrgicas que caminham junto das elaborações cênicas.
Trata-se de uma consequência das muitas circunstâncias e escolhas por trás destes olhares. Em 1987, versando sobre a função da crítica teatral, Sábato Magaldi aponta – em plano menos modesto – que a crítica tem o poder de influir na afirmação de determinado gênero de teatro, em detrimento de outro. A historiografia (ou uma historiografia) sustenta a afirmação de Sábato; tenho dúvidas da dimensão de tal influência ainda hoje. Mas há, com certeza, uma relação entre essa função e o reconhecimento e a promoção de ideias potencialmente férteis, relembrando o texto de Juliano Gomes.
Assim, concentro a minha presença nas obras da cena teatral contemporânea caminhando lado a lado de Giorgio Agamben e Susan Sontag, talvez contraditoriamente: compreendendo, com o primeiro,
143
que contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro (O que é contemporâneo) e concordando com a segunda em relação ao valor da transparência para a arte (e consequentemente para a crítica), no sentido de sentir a luminosidade da coisa em si, das coisas sendo o que são (Contra a interpretação).
Perceber o escuro, sentir a luminosidade. Tatear o que nos circunda, compreendendo a complexidade do fazer teatral, buscando fazer destes escritos tentativas de gestos que produzam movimentos.
DOS NÃO DITOS
Tomei nota de todas as obras que assisti neste 2022 (foram 156, número que – levando em consideração a rotina intensiva de alguns festivais que acompanhei – é relativamente baixo). Em meados do ano, criei um perfil exclusivo para apoiadores da campanha para manter a ruína acesa no instagram onde publiquei pequenos textos, chamados de #curtinhas, sobre todos os espetáculos que vi (excetuando-se em festivais).
Foram dois recursos que se mostraram bem úteis, tanto para meu registro pessoal e minha memória, mas também para notar que, por diversas circunstâncias, acabei não escrevendo sobre trabalhos que gostaria de ter me demorado em um processo de escrita crítica. Então, este é o momento de escrever o que não foi dito sobre cinco encenações. A ordem é cronológica (em
144
relação à quando assisti aos trabalhos).
Sem Palavras (companhia brasileira de teatro/PR)
Corpos que narram seus próprios códigos, códigos que narram corpos inventados. Composições corpo-palavra; diálogos construídos em fricções e repetições, textos (e partituras e gestos) que ressurgem reverberam ecoam. O que corpos têm a dizer pelo que são, pelo que representam, pelo que se espera deles?
Sarah e Hagar decidem matar Abraão (Rainha Kong)
Desmembrar o patriarca até que nada sobre e então ir em busca do paraíso. Espelhamentos bíblicos possíveis em futuros distópicos. Minha senhor: um dispositivo simples que fissura o gênero. Nas roupas o desfile de tempos dos pesos leituras levezas; um upcycling de Gênesis. Em sete dias o que se cria e o que se conta? Altares, figuras totêmicas, radiografias, distorções, Cid Moreira. ____________________________________
Nzinga (idealizado, concebido e dirigido por Aysha Nascimento, Bruno Garcia e Flávio Rodrigues)
145
____________________________________
Reivindicar imaginários ao refundar realezas. “Nzinga” parte da história da rainha de mesmo nome, Ngola da Matamba – reino pré-colonial africano, na região onde hoje é a nação de Angola – para trazer a tona não apenas a memória (entre o mítico e o documental) desta mulher, mas para pensar comunidade. Nos códigos dançados, desenhados pela iluminação e presentes no cenário, cosmogonias bantu dialogam com a narrativa plural que parte da relação de Nzinga com seu irmão, Mbandi, no processo de sucessão ao trono do então reino de Ndongo após a morte de seu pai, Kiluanji, e sua ascensão ao trono após o falecimento de Mbandi. Colonialismo, escravidão e a racialização de um povo se entremeiam na bela dramaturgia de Dione Carlos. Se algo pode parecer estranho a um espectador branco diante dos signos historicizados e vivificados pela população da diáspora africana, o momento da narração daqueles entes-personagens diante de uma missa católica devolve o desconforto: diferentes raízes trazem diversas cosmogonias e oferecem infindáveis mistérios aos “outros”.
Améfrica em 3 atos (Coletivo Legítima Defesa)
Lisergia diaspórica. O Legítima Defesa, em seu terceiro espetáculo, vai consolidando seus procedimentos, operações, dispositivos e linguagens cênicas. Sobre Améfrica, sinto não ter escrito, considerando que o ruína acesa conta com críticas de A Missão em Fragmentos:
146
____________________________________
12 cenas de descolonização em Legítima Defesa (2017) e Black Brecht — E se Brecht fosse negro?(2019), além de ter também testemunhado a performance que deu nome ao grupo, no Theatro Municipal, na MITsp de 2016 (falei um pouco sobre a experiência em uma publicação no facebook em 2020) A imaginação radical é evocada e aplicada na cena. Três atos distintos mas em torno do mesmo tema: a amefricanidade ladina. Viva Lélia Gonzalez e as tantas vozes presentificadas como cinzas descendo o rio amarelo do céu para a cena. O colonialismo é antigo e se repete insistente e há muito já se fala disso. Mas as tecnologias para o seu enfrentamento também não vem só de hoje. a retomada entende o tempo espiralar, o afrofuturismo finca seus pés na ancestralidade que é a de antes mas é a de hoje. Os coros do Legítima são tanto são rios são outros são muito. E a palavra ainda é centro, mas são muitos os centros. Atores ensaiam, exus narram, yamis dançam. Línguas giram no vórtice que reaproxima os continentes. Aldeia-quilombo-favela. Confluências na retomada.
E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis (Cia. de Teatro Acidental)
Sobre ela, ainda pretendo escrever mais demoradamente. Quando a Acidental ecoa Koltès no momento do “ensinamento dos clássicos”, seguindo a estrutura de A Decisão, de Brecht, inspiração para
147
____________________________________
E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis, é como se a solidão dos campos de algodão fosse hoje uma antinegociação; um fracasso da ação, um fracasso do desejo. O confronto com as bases brechtianas faz do palco tabuleiro e do elenco peças corais, que mesmo quando falam em primeira pessoa formam um nós um tanto disforme – ainda que enunciando seus marcadores e tomando nítida posição em torno de onde partem seus discursos. Nesta espécie de peça didática, o aprendizado está neste movimento de não-saber, onde a Acidental é coro de controle, jovem camarada, camponês e cinco agitadores mobilizados não mais pelo partidão, mas por uma polifonia dissonante. O tabuleiro exibe provas de um crime; do insucesso da missão? No autodiagnóstico sobre a esquerda brasileira (mundial?) contemporânea, a percepção de que faltam combatentes e sobram culpas. São tentativas de nós emaranhadas numa feitura e desenlace de nós, onde a racionalidade é apenas parte do debate e das práticas necessárias. Panfletos são desenhos de colorir e a decisão paira no ar: juízes carrascos e vítimas coletivamente preferindo não existir diante do desmontar do tabuleiro.
DO JÁ DITO
Catorze nomes sobre os quais já escrevi. Acredito que as próprias críticas dos trabalhos apontem para os motivos delas estarem aqui elencadas; seguem então trechos e os links para os textos. A ordem é cronológica (em relação à quando assisti aos trabalhos).
148
Língua Brasileira (Ultralíricos e Tom Zé): paisagens linguagens.
A dramaturgia da encenação, assinada por Coletivo Ultralíricos, Felipe Hirsch, Juuar (também diretora assistente) e Vinícius Calderoni, segue de certo modo a estrutura já presente nas obras que antecedem Língua Brasileira dentro da chamada Tetralogia involuntária dos Ultralíricos (Puzzle, A Tragédia e Comédia LatinoAmericana e Selvageria).
Aqui, porém, parece haver uma dimensão outra; talvez pelo entremear das canções de Tom Zé, talvez pela materialidade da linguagem estar amparada quase exclusivamente na relação entre intérpretes, com seus corpos, gestos e vozes, e as palavras, nas sonoridades mais ou menos compreensíveis, legendadas ou não, que dançam e ocupam palco, plateia e imaginário.
Estudo nº 1: Morte e Vida (Magiluth/PE): mas isso ainda diz pouco
Mas isso ainda diz pouco. A insistência de trazer esta afirmação à cena, remetendo ao primeiro movimento do poema, quando o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, opera simultaneamente no jogo estrutural da encenação e também na lida, atenta, com seu discurso.
149 ____________________________________
____________________________________
Estudo nº 1 é essencialmente espiralar, apresentando uma sucessão de quadros e tentativas de inícios, fins e reinícios – vida, morte, vida, na inconstância e na fragilidade, na busca incessante por aquilo tão belo como um sim / numa sala negativa.
7PISOS (Grupo Folias): a perversa arquitetura da branquitude
Há uma diferença fundamental entre Sete Andares, conto de Dino Buzzati, e 7PISOS, de Amorim e Folias: o sujeito. Enquanto pouco importa, no conto italiano, quem é – e como é – Giuseppe, no Galpão do Folias José P. tem sua existência atravessada pela raça. Alex Rocha, ator negro, interpreta Giuseppe/José P. Corte, um escritor negro. A construção desta personagem funciona como dispositivo para o jogo metalinguístico na encenação épica de Feliz: Rocha, com seu corpo inscrito em cena, é Corte, que escreve sua história na cena.
Ao redor do protagonista, dois atores (Lui Seixas e Marcellus Beghelle) e duas atrizes (Clarissa Moser e Marcella Vicentini), todos brancos, são enfermeiros, médicos, seguranças, professores; todos, entre a condescendência, o cinismo e a violência naturalizada, são algozes. São eles que conduzem Corte por este labirinto kafkiano, onde a burocracia dá lugar à patologia, adicionando camadas de perversidade à
150
____________________________________
estrutura arquitetônica. 7PISOS é o edifício construído sobre inúmeros esqueletos que se sustenta em racismos científicos, estruturais e recreativos; uma arquitetura da branquitude que escancara a miséria patológica da ficção do normal.
Cárcere ou Porque as mulheres viram búfalos (Companhia de Teatro Heliópolis): mulher, assentamento do vento
Iansã, entre o búfalo e a borboleta: em Cárcere, as irmãs Maria dos Prazeres (Dalma Régia) e Maria das Dores (Jucimara Canteiro) não trazem exatamente essas duas representações, mas elas podem servir de ponto de partida para a reflexão. Régia é quem torna-se búfalo nas cenas de caráter ritual, de evocações e culto à orixá. E é também a sua Maria que parece carregar na trajetória a liberdade da floresta, o encarceramento da casa (e do casamento, talvez) e a necessidade da fúria animal como revide. Ainda assim, sua vingança é também a festa.
Sete cortes até você (Soraia Costa): a história de uma escolha e a escolha de uma história
Em Sete cortes até você, talvez a maior chave para a compreensão do que intenciona Costa em sua
151
____________________________________
____________________________________
criação esteja nas primeiras falas da artista: eu adoro histórias. E o papel do teatro nisto? Dar forma a essa autoficção é sua possibilidade de contar a história de uma escolha e a escolha de uma história. Sobre acontecimentos da própria vida, Costa afirma: eu não escolhi essa narrativa. Aquele não podia ser meu filme. Ela, agora, protagonista do que lhe atravessou, ultrapassou, derrubou, levantou, moveu e foi movido, é quem comanda o bisturi e conduz o público a cada um dos cortes literais e simbólicos que vivenciou em seu tornar-se mãe.
anonimATO (Cia. Mungunzá de Teatro): chocar o ovo da utopia
anonimATO é a materialização da impossibilidade de se manter em paralisia nestes tempos de morte. É o teatro feito Ato: um mover-se na angústia, por entre incertezas; o insistente passo adiante na direção do abismo. Buscar a utopia no horizonte, ainda que a cada passo dado ela também caminhe mais distante (como disse Fernando Birri em conversa com Eduardo Galeano, em citação presente no trabalho da Mungunzá).
Verdade (Tablado SP): da invisível presença
(…) há na encenação algo de instável, algo
152
____________________________________
____________________________________
de desagradável; ações e falas que podem simultaneamente gerar repulsa e riso na plateia. Entre os arroubos de militares tornados públicos e as tantas lacunas de segredos preenchidas por Dal Farra, o Tablado compartilha a sua leitura de uma sucessão de fatos dos últimos vinte anos que resulta assustadora. Distante das terríveis provocações à identificação do público presente nos trabalhos anteriores, com apenas momentos pontuais de convite a essa autoimplicação no discurso da obra, paira uma sensação de absoluta fragilidade diante deste teatro de operações militar, cuja posta em marcha há décadas pode ter nos trazido até onde estamos – e quem sabe aonde ainda nos levará?
Macacos (Cia. do Sal): Ícaro preto em pleno voo
Uma das linhas de força do espetáculo é a relação épica construída com a cena em si: além de narrar sua própria trajetória, apontando para o contato ainda muito jovem com aulas de teatro como sua salvação, Clayton Nascimento faz do palco um campo de possíveis; um espaço de criação infinita de encontros. Um sol que não derrete as asas deste Ícaro preto, mas lança luz em seu caminho.
Mas não há romantização a partir desta perspectiva
individual: MACACOS é sucessão ágil, ora bruta ora didática, de quadros de denúncia da violência de
153
Estado e do genocídio da população preta e pobre do Brasil. Sozinho no palco, sem cenários ou adereços, Nascimento faz de seu corpo – e de sua voz! – veículo de comunicação, memória, sonho e luta, entre a ordenação do professor diante da turma de estudantes e uma selvageria que manifesta a brutal realidade.
História do Olho (Janaina Leite): profanar a devassidão
Não esqueça nada do que você sabe sobre pornografia: lembre-se de tudo que experienciou com – ou contra – ela. História do Olho traz mais dúvidas que respostas em sua adaptação cênica do obsceno, formalizando o erotismo de Georges Bataille enquanto parte integrante da experiência humana. Há muito o que se pensar e problematizar em torno de diversos aspectos, inclusive sobre a dissolução das bordas entre público e privado, talvez comum à pós-modernidade. E pode ser o teatro o campo mais fértil para a semeadura de contemplações e reflexões neste e em tantos outros sentidos. Compreender tudo; estranhar tudo. A experiência orgânica do que vive em nós. É sobre o que já existe e nos circunda e sobre o que habita imaginários – e, assim, passa a existir.
AGAMENON 12H (idealizado e dirigido por Carlos Canhameiro): crítica dentro
154
____________________________________
____________________________________
(Realizei, na estreia da obra, o experimento da Crítica Dentro, formato originalmente proposto por Ruy Filho, na Antro Positivo). (…) nas doze horas, não apenas o texto continuamente se abre em entendimentos a partir das diferentes postas em cena, mas também é aberto pelo elenco nas proposições que ampliam debates talvez laterais ou pequenos no andamento da dramaturgia de Rodrigo Garcia. Cada escolha oferece camadas distintas de compreensão, reflexão e provocação; funcionando de modo independente, mas consolidando uma experiência única em sua sequência de singularidades.
Vienen por mí (atuação de Fabia Mirassos, dramaturgia de Claudia Rodriguez e direção de Janaina Leite): amplificar sussurros
As escolhas da encenação parecem todas confluir, de forma minimalista, para que o foco esteja nas palavras e movimentos de Fabia Mirassos. Conduzindo o público do início ao fim do espetáculo, a intérprete desenha suas intenções com precisão: na modulação de uma frase, é capaz de transformar totalmente a atmosfera do espaço – e a luz de Santini dança com cada cena. Trata-se de um trabalho sutil, onde leveza e assertividade encontram seus espaços como os temperos de uma receita agridoce. E pode a travesti cozinhar?
155
Quimera (Grupo de Teatro La Trinchera/EQU): imaginar fronteiras como encruzilhadas
Uma linha imaginária, mas de efeitos profundos na realidade contornada, separa dois soldados de lados opostos. Certo dia, em meio à suas rotinas de vigília, se dão conta que ela desapareceu. Territórios e identidades ficam em suspenso no encontro que dá início à Quimera, do Grupo de Teatro La Trinchera. De nítida inspiração na realidade do Equador, que nomeia a linha que divide o mundo em dois, Quimera traz na complexidade do simples uma história que merece ser contada. ____________________________________
Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução (Grupo Pano): a coragem do nós
Foi enquanto eu esperava é uma demarcação incisiva do coletivo na percepção de que tudo é passível de questionamento – discursos ideológicos, bases teóricas e produções estéticas parecem todos balançar na dinâmica da encenação. O Grupo Pano compreende o locus social de sua instituição enquanto coletividade teatral na cidade de São Paulo e toda a reflexão proposta pela obra é indissociável dos marcadores sociais que atravessam sua composição
156 ____________________________________
– que não escapa, nem nega, de sua constituição majoritariamente branca e burguesa. Ao mesmo tempo, o cinismo comum a trabalhos de pretensa autocrítica aqui encontra uma estrutura onde pode navegar com certa tranquilidade.
Erupção: o Levante ainda não terminou (coletivA ocupação): evocar em corpo-cruzo uma cartografia tectônica
Nesta lida com uma miríade de cosmogonias e narrativas, Erupção estrutura-se enquanto uma ambiciosa empreitada da coletivA. Ao encenar tempos e ventos, performers-criadores são corpos-encantades, corpos-magmas, corpos-mares, corpas-ancestrais. Assim, ainda que partindo de acontecimentos históricos, este Levante que ainda não terminou parece se desdobrar em eras geológicas, movimentando profundezas de um mundo em contínua (trans) formação.
Se por vezes a apreensão do todo do discurso corre o risco de escapar pelos dedos, a todo momento é possível sentir as mudanças climáticas do espaço cênico. Corpos, corpas, música, palavra e iluminação são terremotos e tempestades nesta Erupção constante. Festa e guerra, alegria e angústia, prazer e dor, polos aparentemente binários, são como placas tectônicas em seus movimentos convergentes, divergentes e transformantes.
157
____________________________________
SER UMA ILHA, PERCEBER ARQUIPÉLAGO
Já escrevi demais. Essa é uma lista, acompanhada da tentativa de fazer com que ela faça sentido. Espero que faça, ao menos para alguém. O ruína acesa é uma entre diversas casas críticas deste Brasil. Há muita gente fazendo um trabalho sério, mesmo tantas vezes sem as melhores condições para isso. Felizmente, ao lado de outras plataformas e com o apoio da Corpo Rastreado, caminhos vêm se mostrando possíveis: este texto foi produzido no contexto do Projeto Arquipélago.
Para finalizar, um pouco mais de Paco Vidarte: Outra palavra de ordem: se você teve uma ideia, ponha-a em prática! Bata as asas antes de saber que treco é esse que você desenvolveu nas costas, antes de saber o que é voar e se há uma relação direta entre ter asa e voar. (…) Uma leve turbulência acaba se convertendo num redemoinho, um leve tremor se expande até provocar um maremoto, uma rachadura minúscula derruba um prédio de preconceitos, uma suave inclinação gera uma catástrofe ideológica, a mais inócua heterodoxia arruína um dogma, um cartaz feito às pressas com caneta hidrográfica, colado numa ripa com fita crepe, acaba sendo visto por milhares de pessoas, gera simpatias, solidariedades. (em Ética Bixa)
Dezembro / 2022
158
159

160
Satisfeita, Yolanda?
O blog Satisfeita, Yolanda? é um espaço para críticas, entrevistas, reportagens, bastidores. E, principalmente, para dar continuidade e repercussão ao processo de criação da arte teatral. As Yolandas – Ivana Moura e Pollyanna Diniz –são jornalistas pernambucanas, apaixonadas por teatro.
161

A doença do outro

Foto: Jonatas Marques
Nem toda bixa é igual…
Por Ivana Moura
Da primeira vez que assisti ao espetáculo A Doença do Outro, idealizado, escrito e protagonizado por Ronaldo Serruya, com direção de Fabiano Dadado de Freitas, me perturbou a transição rápida entre o relato e o apelo para a festa, que encerra a apresentação. Cerca de um ano depois fui lá de novo (reassisto, quando a peça me diz muito), na reestreia, desta vez no auditório do Sesc Ipiranga, em São Paulo.
Faço comparações de memória com a outra sessão no Centro Cultural São Paulo, naquela estrutura com a que é exibida agora. Confesso que sinto falta da profundidade espacial do porão e dos elementos simbólicos que o lugar suscita. Serruya disse que pensou na montagem para ali mesmo, naquela sala miúda do Ipiranga ou algo parecido. A Doen ç a do Outro integra aprogramação do Teatro Mínimo, projeto criado em 2011 pela equipe do Sesc Ipiranga. Bem, o espaço é importante, mas não é o principal.
Serruya expõe os estados – as cores e as tensões – da sua convivência com o vírus HIV. Para falar desses percursos com pessoas de uma plateia supostamente empática – mas que provavelmente nem de longe sentiu na carne o estigma da doença
o ator se derrama em uma generosidade atroz.
164
–
Cada um de nós se distingue dos demais por suas qualidades, encaradas positivamente ou não. Algumas condições são temporárias. Aliás, todas, como salienta o artista, mas que às vezes duram mais tempo e dão a sensação de perenidade, de ser mais do que uma circunstância. É bonito como Serruya nos lembra disso. Do imponderável. Ele, Fabiano Dadado de Freitas e equipe, fazem um corte cirúrgico na existência.
A Doença do Outro é um espetáculo desconfortável. Que vai incomodando aqui e ali; nas nossas certezas de bem-estar, e nas armadilhas de poder que o capitalismo criou com as fantasias de proteção, imunidade, impermeabilidade. O dicionário indica que proteção vem do latim protectio.onis, “esconder”; a pensar.
Tudo está por um triz. Acaso, coincidência, acidente, os acontecimentos marcantes têm um teor disso aí. Viver é correr riscos. O conforto é traiçoeiro, descobre quem se deslocou.
Com coragem o ator abre passagem na sua história para expor seu corpo político. Um corpo pleno de vida que atua no presente, fala, ouve, subverte, performa, faz conexões filosóficas, celebra, dança, se revolta, se indigna, que movimenta as circunstâncias.
Na palestra-peça-perfomance, Serruya convoca os textos de Susan Sontag e os conceitos da socióloga
165
Patricia Hill Collins, além de imagens que que entraram pelos nossos olhos, adubaram o terreno da subjetividade vindas de poderosas máquinas de fazer gente como o cinema e a música.
Em Doença como metáfora, a escritora norteamericana Susan Sontag analisa as fantasias sentimentais ou punitivas quando se passa para o reino dos doentes; os estereótipos e as estigmatizações a partir da linguagem; enfim, as metáforas lúgubres desse lugar e a libertação do seu jugo. O livro completou 40 anos em 2018 e foi escrito no torpor da descoberta de um câncer em 1976. Naquela época, a luta contra o câncer era bem mais difícil.
Sontag refletiu nesses escritos sobre o poder da linguagem, as palavras que tramavam um jogo perverso como presença do Mal no mundo. Metáforas que praticamente naturalizavam os aspectos negativos de determinadas enfermidades ao longo da história da humanidade.
A DOENÇA É A ZONA NOTURNA DA VIDA, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar.
166
Susan Sontag
A ensaísta analisa especificamente duas patologias, a tuberculose e o câncer. A tuberculose se encontra associada ao romantismo, aos sentimentais e apaixonados, forjando um imaginário quase lírico. Já o câncer ocupa no livro um lugar mais tenebroso, de invasão que arrasa e destrói tudo por dentro. Atualmente o câncer não ostenta o peso de outras épocas.
Uma década depois, Sontag direciona suas reflexões para as metáforas associadas à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS ou SIDA. O ensaio Aids e suas metáforas foi publicado num momento em que ter HIV era encarado praticamente como uma sentença de morte. Essa realidade mudou com as descobertas da ciência e atualmente uma pessoa portadora de HIV pode ter a mesma expectativa de vida do que alguém que não tenha o vírus.
Patricia Hill Collins desenvolveu o conceito de imagens de controle para falar da feminilidade de mulheres negras. Ou melhor, para detectar os elementos operacionais de dominação para o exercício da violência simbólica. Da manipulação dentro do sistema de poder no padrão ocidental branco eurocêntrico. Mas as articulações podem ser aplicadas a outras realidades. Como já disse a escritora ativista Winnie Bueno, são scripts de como determinados grupos devem se portar.
167
Para mostrar a força das imagens de controle, a peça-palestra-perfomance projeta na cena trechos do filme Filadélfia (1993) e outras para atacar essas representações do que seria viver com o vírus.
A Aids já chegou à sua quarta década, mas as metáforas sombrias, que remetem à condenação, prosseguem sua função de estigmatizar e discriminar. A Doença do Outro rechaça essa posição que continua sendo alimentada, acerca das enfermidades.
Serruya chega à cena usando uma grande máscara de gás. Convoca as pensadoras para fundamentar sua argumentação na pe ç a-manifesto ou palestra performativa ou confer ê ncia art í stica. Traça uma breve história social em torno da Aids e faz as conexões com o diagnóstico recebido em 2014. Situa seu corpo no campo dos que são considerados dissidentes e/ou subalternizados.
Fala das heranças, de Fucô (adorei a grafia, Dadado), de Cazuza, etc. Acena que honra o legado de luta, mas celebra a vida em cena.
Projeta, expõe, sacode os panfletos SILÊNCIO = MORTE. Não dá para calar. E ele pede para a plateia repetir coletivamente a palavra Aids, Aids, Aids. Falar, ouvir. É preciso registrar em bom som a sobrevivência dos vaga-lumes.
168
O diálogo da videoarte com a cenografia (trabalhos assinados por Caio Casagrande, Evve Avila e Mauricio Bispo) assume um papel preponderante nesta montagem. O videografismo ocupa as proje çõ es sinalizando tempos, contribuindo nas pulsações.
Estamos vivos, apesar da mira. O artista destaca que um corpo portador do HIV é um corpo perigoso, recusado, fracassado e sigiloso para a maioria dos mortais. Erguer essa peça foi uma forma de recusar o silêncio e a culpabilização.
Dadado lembra no programa do espetáculo que derrubamos no voto um governo comprometido com a necropolítica. Isso muda muito.
Sinaliza caminhos que é preciso dizer de si para dizer do mundo. A autoescritura como ativismo político. Para afrontar a construção de terceiros, para erguer imagens positivas sobre si, por meio de uma autorrepresentação.
O teor festivo desse manifesto pela vida ganhou outras camadas para mim. Uma pandemia no meio, um governo massacrante que já vai tarde. No entanto, é preciso cantar, dançar. “Apesar de tantas mortes no caminho: passado presente e futuro, porque as mortes nunca cessam” pontua o autor-performer. Mais que nunca é preciso contagiar a cidade de alegria. Isso também é um gesto revolucionário.
169
A doença do outro
Idealização, Texto e Atuação: Ronaldo Serruya
Direção: Fabiano
Dadado de Freitas
Cenografia: Evee
Avila e Mauricio
Bispo
Figurino: Luiza
Novembro / 2022
Fardin
Luz: Dimitri Luppi
Trilha Sonora Original: Camila Couto
Operação som e vídeo mapping: David Costa
Assistente e oper-
ação de luz: Paloma
Dantas
Videoarte: Caio
Casagrande, Evve
Avila e Mauricio
Bispo
Produção: Corpo
Rastreado
170
171

Depois do silêncio
 Foto: Christophe Raynaud De Lage
Foto: Christophe Raynaud De Lage
Ferida escravocrata sangra no Brasil
Crítica de “Depois do Silêncio” (“Après le silence”),
de Christiane Jatahy
Por Ivana Moura
A escravidão no Brasil não acabou! Há muitas formas de dizer isso. De expor os resíduos disfarçados da escravatura. Ou “desenhar” o que já está escancarado do racismo estrutural, mas muitos insistem em não ver, teimam em negar. A diretora e cineasta brasileira Christiane Jatahy inspira-se num romance contemporâneo, junta trechos do documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, práticas religiosas do Jarê, quatro artistas no palco, um filme autoral e numa linguagem só dela aponta as facas. Afiadas, como àquela que jogou fora a língua de Belonísia, uma das irmãs do romance Torto Arado, do geógrafo Itamar Vieira Junior, uma das referências da peça-filme Depois do silêncio (Après le Silence), em cartaz até 16 de dezembro no Centquatre Paris, associado ao Odéon para essa temporada.
Foram muitos cortes e são muitas feridas abertas, que nem sabemos até que ponto é possível negociar. O que é certo é que Depois do Silêncio vem com a urgência da fala. Os subalternizados querem falar sim.
Diante de qualquer impedimento vale o chute na porta.
174
Pelo espaço para as vozes silenciadas há séculos. Belonísia, Bibiana, Santa Rita Pescadeira, Gal Pereira, Juliana França, Lian Gaia, Elisabete Teixeira, Salustiana, Donana, Maria Cabocla, misturadas entre personagens e gente, atravessadas umas pelas outras. E mais Aduni Guedes, Zeca Chapéu, Severo, João Pedro Teixeira e moradoras/es das comunidades de Remanso e Iúna na Chapada Diamantina, na Bahia, no Nordeste do Brasil, narradas em várias pessoas, descendentes de escravizados.
Essas memórias emudecidas partem da fictícia região da Fazenda Água Negra para se expandir por muitos lugares do Brasil, que reivindicam o protagonismo de trajetórias, desejos e do próprio corpo. Que repudiam qualquer condição infame análoga à escravidão.
Jatahy expõe as contradições. Vastos territórios, grandes latifúndios indefensáveis enquanto tanta gente não tem onde morar ou trabalhar e consequentemente comer e viver. Sim é sobre terras. Sobre trabalho e dignidade. E o espetáculo aguça para a perversão que mora ali, como está no livro, das casas de barro que se desmancham com as chuvas, pois as de alvenaria estão proibidas pelos “patrões”. É para combater a opressão de trabalhar em troca de comida, um alimento cuja melhor parte vai para os donos das terras; quem labuta fica com as sobras.
Para Christiane Jatahy o teatro é sempre político. Então essas coisas estão entrelaçadas na sua cena:
175
a reivindicação camponesa dos sem-terra contra a ganância dos grandes proprietários e da ação de governos como o de Bolsonaro, que ainda não sabemos o tamanho do estrago causado aos territórios amazônicos com o desmatamento, nem a gravidade do impacto climático dessa necrogeopolítica. Tá tudo interligado, com prejuízos incalculáveis…
O Brasil pulsa dilacerado na cena da diretora brasileira; imenso e dilacerado, na luta do seu povo pela terra, pela liberdade de existir, por sua identidade. A criadora se situa no combate contra a violência colonial não resolvida.
A encenação Depois do Silêncio é a terceira parte da Trilogia dos Horrores, que Jatahy iniciou em 2018, ano em que na política brasileira tudo começou a ficar pior. Uma forma artística de se posicionar, de alertar para as implicações na vida comum. Para investigar os mecanismos do fascismo, a artista ergueu Entre Cão e Lobo (Entre chien et loup, montado no Festival de Avignon em 2021 e inspirado no filme Dogville) e La Chute du Ciel, (Before the Sky Falls), criado na Schauspielehaus de Zurique em outubro de 2021), que conecta Macbeth de Shakespeare com A Queda do Céu de Davi Kopenawa e Bruce Albert para analisar a violência da masculinidade tóxica – do poder político do patriarcado, passando pela agressão contra o feminino e o ataque à natureza.
Para montar Depois do Silêncio a encenadora voltou
176
ao Brasil para ensaiar no Rio de Janeiro e filmar na Chapada Diamantina, na mesma comunidade pesquisada por Itamar Vieira Junior para o livro Torto Arado. Essas gravações de conteúdo doc-ficional se cruzam com fragmentos de Cabra Marcado para Morrer, de Coutinho, que analisa as circunstâncias do assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, em 1962. O golpe militar que desencadeou na ditadura confiscou o filme e perseguiu os artistas. Eduardo Coutinho só concluiu as filmagens em 1984.
Todas essas informações estão na cena. Ou projetadas, ou narradas ou encenadas. Na combinação entre vocabulários teatrais e cinematográficos, a fricção avança em linhas tortuosas entre ficção e realidade, em jogos corporais, discursos, diálogos, provocações, numa partilha não-linear entre passado e presente.
A narrativa é complexa e rica e borra as histórias reais, os conteúdos documentais com o relato das próprias atrizes e do ator/músico para ampliar o escopo do particular para o coletivo.
Com uma escrita dramatúrgica/cênica singular plasmada entre o cinema e o teatro, com seus atores transitando entre os dois universos, a encenadora investe em casos específicos do Brasil para questionar as reverberações da situação do planeta – da terra e do clima – em outros lugares do mundo, porque parece que existe pontos comuns e comunicação entre os oprimidos de todos os lugares do globo.
177
No início do espetáculo, a atriz Juliana França dá boa noite em português, repete e aponta para a legenda em francês. Fala que estamos muito aliviadas com o resultado das eleições presidenciais no Brasil – que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. Aliás a ascensão dessa figura de extrema direita destampou no país um fascismo latente – que não por coincidência eclodiu em várias partes do mundo.
É desconcertante quando Juliana fala das terras do Brasil (com imagens exuberantes no telão). Só o tamanho da Chapada Diamantina é maior que a Bélgica. E quando esmiúça para a plateia que o governo francês manteve um departamento nessa área do Nordeste para enviar as preciosidades brasileiras para a França.
Acompanhadas pelo percussionista Aduni Guedes (um pernambucano que Berlim adotou), dividem o palco Juliana França, Lian Gaia (atriz e performer indígena, bisneta de João Pedro Teixeira, o líder da primeira Liga Camponesa da Paraíba) e Gal Pereira. As três atrizes brasileiras se instalam atrás de mesas como palestrantes, em momentos distintos; enquanto um imenso telão que ocupa toda a largura do palco projeta as imagens.
As artistas mudam de registro, falam como se fossem improviso e nos convencem disso, passam para as falas ensaiadas e essas nuances estão intimamente ligadas ao som tocado ao vivo e aos filmes em que elas
178
praticamente entram quase como passe de mágica. As vozes levantam o tom para defender seus direitos, pleitear pela dignidade humana. O grupo mostra revolta ao tratar de injustiça, abuso de poder, falta de oportunidades, perseguições, assassinatos, opressão.
E dentro da opressão são reveladas opressões noutros cruzos, alimentadas pelo patriarcado e masculinidade tóxica. As mulheres sofrem mais violências inclusive dentro da própria comunidade.
Das festas religiosas e das danças sagradas, o jarê é convocado em alguns momentos. Mas a cena mais surpreendente é quando a atriz Gal Pereira, selecionada pela diretora durante um laboratório na comunidade quilombola do Remanso, assume o transe, ao toque do couro.
Essa breve e impactante cena carrega muitas camadas, desde a sabedoria popular que foi marginalizada ao ethos da oralidade. O Jarê é, segundo uma reportagem da revista Carta Capital, o “candomblé de caboclos” típico da Chapada Diamantina. Ele faz uma síntese particular do espiritismo kardecista, das influências africanas e indígenas, dos índios Cariris e Maracás em suas performances xamânicas.
Maestrina, Jatahy acelera e desacelera ritmos, acentua melodia, o tom dos corpos numa execução afiada, ousada e politicamente posicionada. Trabalha a porosidade da confluência das linguagens cênica e
179
cinematográfica em seus dispositivos. Sabe a hora do ataque e da defesa, de fazer o corte e amplificar as vozes.
Depois do silêncio é preciso falar. Muito. Do que ficou engasgado por séculos. Testemunhar, denunciar e esperançar vibrando na utopia do futuro.
A criadora habilmente dá drible estonteante mais uma vez no desfecho tão aberto a interpretações. É quando ecoa, de alguma forma, a frase final do romance que diz “Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”. Para refletir… E, por final, mas não menos importante, é uma alegria assistir a mais um trabalho dessa artista, de visão e sensibilidade tão potentes a projetar no mundo suas inquietações e contrapor qualquer possibilidade de narrativa única.
Depois do silêncio (Après le silence) no Centquatre Paris / França
Direção artística e texto: Christiane
Jatahy
Baseado no livro:
Torto arado de Itamar Vieira Júnior
Com Gal Pereira,
Juliana França, Lian Gaia, Aduni Guedes
Filmagem com
moradores das comunidades de Remanso e Iúna (Chapada Diamantina/Bahia/Brasil)
Set e light design: Thomas Walgrave
Música: Vitor Araujo, Aduni Guedes
Fotografia e
câmera: Pedro Faerstein
Sonorização e mixagem: Pedro Vituri
Montagem (filme):
Mari Becker, Paulo
Camacho
Som (filme): João
Zula
180
Figurinos: Preta Marques
Sistema de vídeo: Julio Parente
Preparação corporal: Dani Lima
Colaboração texto: Gal Pereira, Juliana
França, Lian Gaia, Tatiana Salem Levy
Interlocução: Ana Maria Gonçalves
Tradução: Igor Metzeltin (Alemão, Inglês)
Assistência de direção: Caju Bezerra
Assistência de câmera: Suelen
Menezes
Operação de som: Diogo Magalhães
Operação de luz: Leandro Barreto
Operação de vídeo:
Alan de Souza
Direção de pro-
Novembro / 2022
dução: Claudia Marques
Assistência de produção: Divino Garcia
Coordenação de produção e tour management: Henrique Mariano
Administração: Claudia Petagna
Referências e imagens: Cabra marcado para morrer de Eduardo Coutinho, produção Mapa Filmes
Produção: Cia Vertice – Axis productions
Coprodução: Schauspielhaus Zürich, Le CENTQUATRE-Paris, Odéon-Théâtre de l’Europe –
Paris, Wiener Festwochen, Piccolo Teatro di Milano
– Teatro d’Europa, Arts Emerson – Boston, RiksteaternSweden, Théâtre Dijon-Bourgogne CDN, Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Populaire Romand – Centre neuchâtelois de arts vivants La Chaux-de-fonds, DeSingel – Antwerp, Künstlerhaus Mousonturm – Frankfurt a.M., Temporada Alta Festival de tardor de Catalunya and Centro Dramatico National – Madrid.
Christiane Jatahy é artista associada ao CENTQUATRE-PARIS, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Schauspielhaus Zürich, Arts Emerson Boston and Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.
181

Entre les lignes
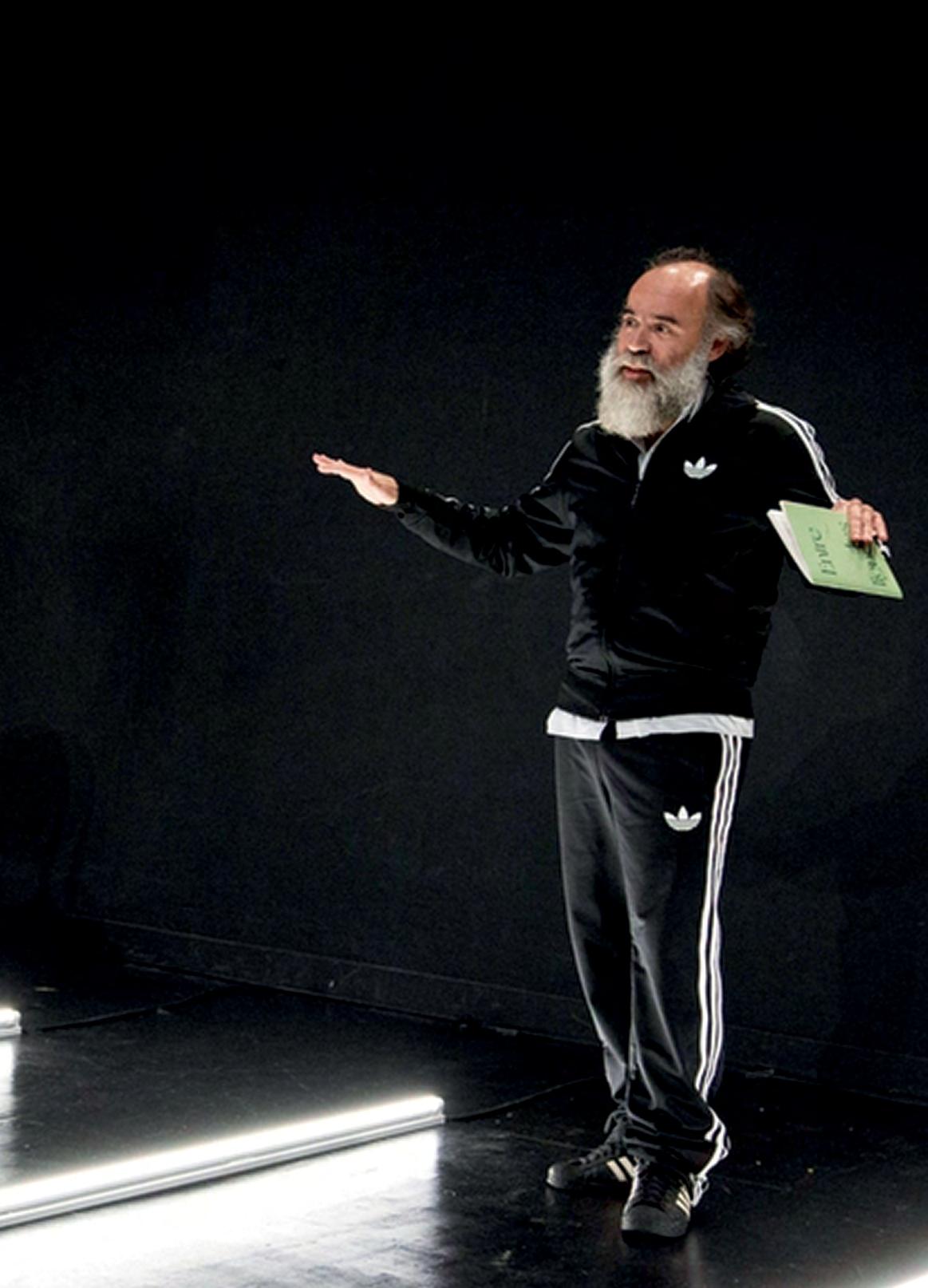 Foto: Mariano Barrientos
Foto: Mariano Barrientos
Inimigos do fim
Frescor de começos
Crítica de Entre les lignes, espetáculo de Tiago Rodrigues
Percebo Entre les lignes como uma jornada por um labirinto, uma descoberta em sequência de bonecas russas, un mille-feuille cênico. Essas imagens chegam repletas de ideias de jogo e de muitas camadas agregadas com desafios, encaixes e algum sabor. O espetáculo do encenador português Tiago Rodrigues com o ator Tónan Quito erguido em fevereiro de 2013 em Lisboa, recriado em março de 2016, numa versão francesa, no âmbito do festival Terres de Paroles é intrigante. Produz no palco muitas reflexões acerca da criação, da cumplicidade, da ficção, do status de verdade, do dito e do não-dito, da presença.
Muitas associações possíveis nessa construção rizômica; nessas aberturas de pensamentos. São tantas propostas para chegar ao coração do teatro, talvez do que flameja esse coração que é teatro, que pulsa tanto até contagiar a plateia.
Assisti Entre les lignes nos últimos dias da curta temporada no Athénée Théâtre Louis-Jouvet, em Paris, onde ficou em cartaz entre 23 de novembro e 17 de dezembro de 2022, mas a peça segue em turnê de apresentações em abril
184
de 2023 em Aix en Provence (Bois de l’Aune), em Toulouse (Théâtre Garonne), em maio em Creil (La Faïencerie).
Depois de subir algumas escadas e chegar ao poleiro, na Sala Christian-Bérard, um espaço intimista de 91 lugares no quarto andar do teatro (e isso já é uma experiência forte, seguir em comitiva por aquelas escadas com pouca iluminação e plenas de histórias), encontramos Tónan Quito, um intérprete maduro de barba grisalha, que aguarda o público se acomodar até perguntar: “Nós podemos ir?”
No palco uma mesa, uma máquina de café, uma cadeira, lâmpadas fluorescentes tubulares brancas no chão. Tonan Quito usa jogging e tênis. Tem o olhar apreensivo. Oferece um café à plateia. Alguém aceita. O ator bebe o seu. É uma sala de ensaio. Mas pode ser outros lugares, vagando entre o passado e o futuro.
Pega um livro e lê a carta de um preso para sua mãe. A mensagem está emaranhada com o diálogo de Édipo e Tirésias. “Mãe, decidi escrever-te esta carta, mesmo que não a quisesse endereçar a ti, esta carta que escrevo nas entrelinhas deste antigo livro é para o papá”. Tónan
Quito conta ter encontrado um exemplar dessa obra na biblioteca do pai, comprado a um major de Moçambique. Duas histórias de parricidas.
O espetáculo é apresentado em francês, com extratos em português e legendas em francês. A tradução projetada ao fundo do palco – do texto de Sófocles e a carta do detento
185
–
ganha tipografias distintas.
Essas narrativas se cruzam imperiosas, promovendo tensões e erguendo obstáculos a uma compreensão rápida. Siga o fluxo. O processo é vertiginoso.
O ator interrompe as histórias contadas para conjecturar em francês que espera o seu texto para o ensaio mas, como sempre, Tiago está atrasado. A fidelidade, a cumplicidade entre os dois artistas são evidenciadas entre esperas e reminiscências, desejos que a cena se materialize e medo de que isso não ocorra. Vêm a tona os posicionamentos no mundo e processos criativos. Nesses bastidores da criação o ator sabe e diz que as coisas fervilham na cabeça do dramaturgo/diretor mas… tem medo, mesmo sabendo que é sempre assim.
Confessa que é um jogo, que eles inventaram. Um jogo da criação teatral; um exercício sublime, delicado e frágil e tão carregado de dúvidas. Um complexo e exigente texto. Essa linguagem poderosa magnetiza os espectadores em Paris, Numa entrevista, o encenador Tiago Rodrigues (novo diretor do Festival de Avignon) falou que “a ideia do fracasso” ocupava o centro da sua peça Entre les Lignes, que isso pulsava no núcleo do desejo de fazer o espetáculo. Sem dúvida é de uma potência imensa testar a possibilidade de falha. Isso ocupa o palco, o pensamento, a vida.
Arma-se um labirinto sem começo e sem fim. De um
186
café lisboeta – ponto de encontro de Tiago Rodrigues com Tónan Quito -, ao palácio em Tebas, o apartamento do encenador, os corredores de uma cadeia. Atalhos e desvios… Lugares de encontros imprevistos. Dos desafios da navegação lançados por Deleuze e Guattari, Tónan Quito propõe uma viagem entre passado, presente e futuro.
Nessa mise en abyme, as histórias vão se entrelaçando, do parricídio eternizado por Sófocles, as razões de um condenado à prisão perpétua, de um diretor que nunca aparece e até um pequeno excerto de Dom Quixote de Cervantes. Essas várias superfícies de textos são ambiciosas. Somos desafiados a encontrar começos em sinapses múltiplas.
O dramaturgo justifica sua ausência por um problema de visão que o impede de ler. Essa cegueira (metafórica? ) chama Tirésias para a dança. Já o alardeado sumiço revela os bastidores, os preparativos, as engrenagens a reforçar a vocação coletiva do teatro. Tiago Rodrigues não está lá e está. Tudo é matéria do espetáculo. Sobretudo a presença.
A atuação de Tónan Quito é brilhante. A plateia segue o ator encantada, se entrega ao jogo inteligente, ri das partes mais humoradas. Ele mostra virtuosismo, até nas indicações cênicas mais caricaturais entre o drama e farsa. O público ri e adere. Achei excessivo o caricaturesco. Meus olhos reclamaram das lâmpadas fluorescentes acendidas para pontuar alguma mudança e utilizadas quase como personagem na cena da paródia.
187
O ator pede a alguém do público que faça a última leitura do texto Entre les Lignes, distribuído à plateia em formato de livreto.
E encerra dizendo que que a peça não aconteceu. Que pode estar apontada no futuro, por não ter assentada no passado. Intrigante. a complexidade da escrita prossegue em sua dinâmica de trocas estreitas. Essa desapropriação temporal. Essa insistência na transgressão. Essa infinita busca pelo frescor do começo.
Entre les lignes
Uma criação de Tiago Rodrigues & Tónan Quito
Texto Tiago Rodrigues
Com Tónan Quito
Colaboração artística Magda Bizarro
Cenografia, ilustração, figurinos
Novembro / 2022
Magda Bizarro, Tiago Rodrigues, Tónan Quito
Direção técnica
André Pato
Tradução francesa
Thomas Rasendes
Legendas Sónia De Almeida
Produção associada
OTTO Productions – Nicolas Roux & Lucila Piffer
Produção original Magda Bizarro & Rita Mendes
Projeto da empresa Mundo Perfeito (2013) com o apoio do Governo Português e da DGArtes.
188
189
Projeto Arquipélago | críticas
Cena Aberta
Farofa Crítica!
Horizonte da Cena
OFF Guia de Teatro
Ruína Acesa
Satisfeita, Yolanda?
Tudo, Menos Uma Crítica
Projeto Gráfico
Fernanda Ficher
Diagramação
Dado Rodrigues
Apoio Cultural
Corpo Rastreado
Edição
OFF Produções Culturais
www.projetoarquipelago.com.br
Apoio cultural

192



 Foto: Marcela Guimarães
Foto: Marcela Guimarães

 Foto: Ivan Soares
Foto: Ivan Soares

 Foto: Mylena Sousa
Foto: Mylena Sousa

 Foto: Ligia Jardim
Foto: Ligia Jardim


 Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

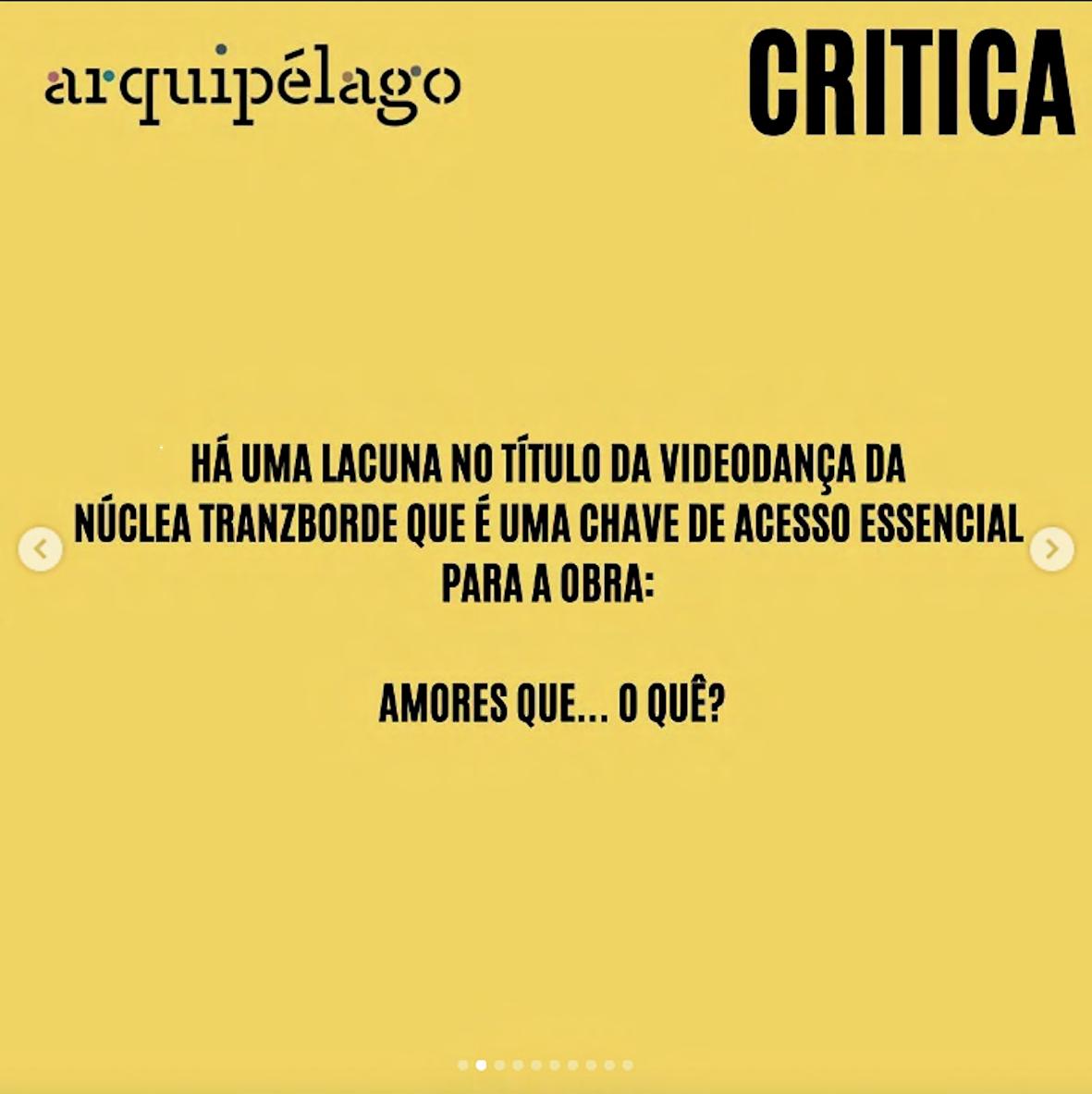

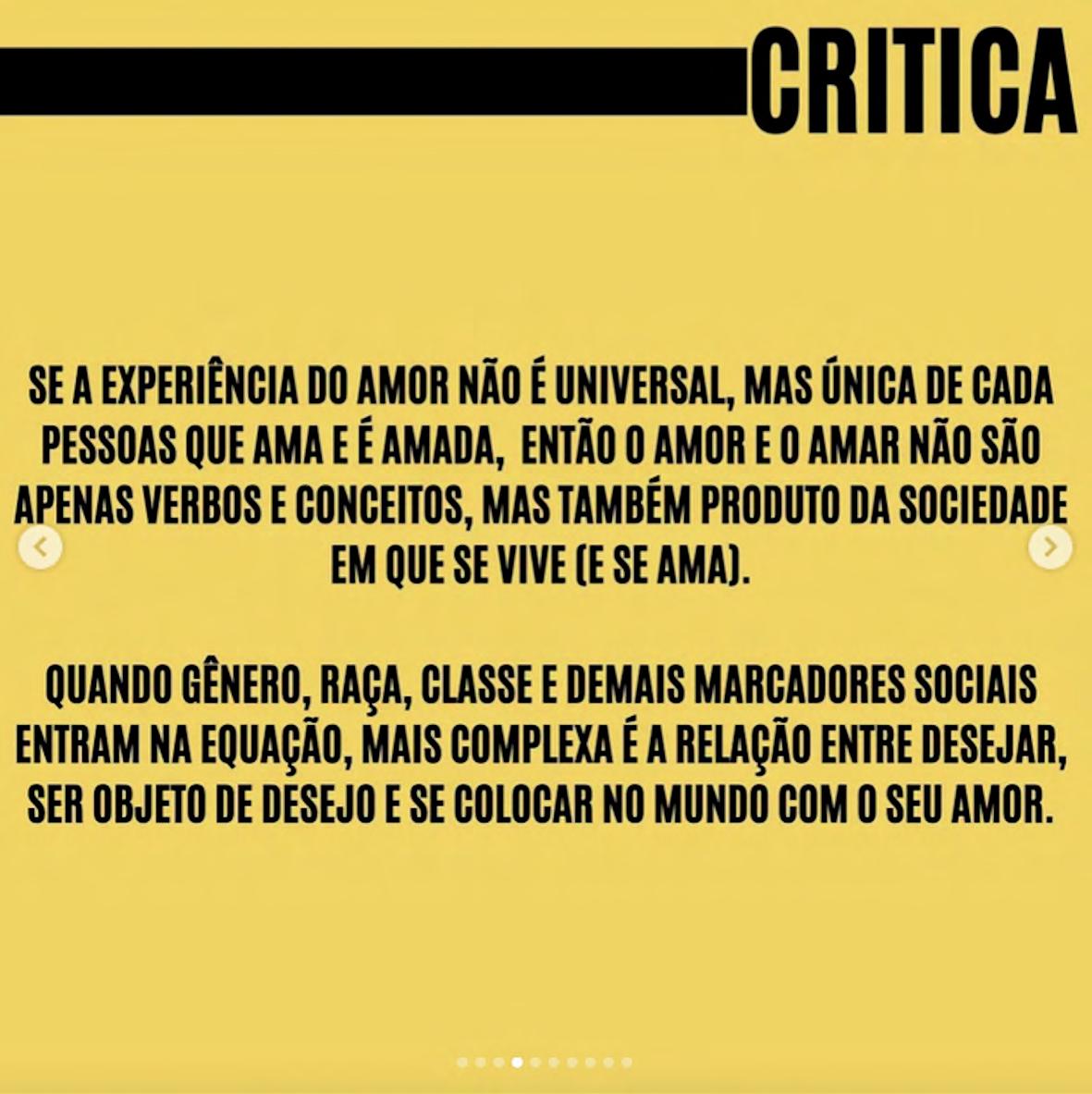




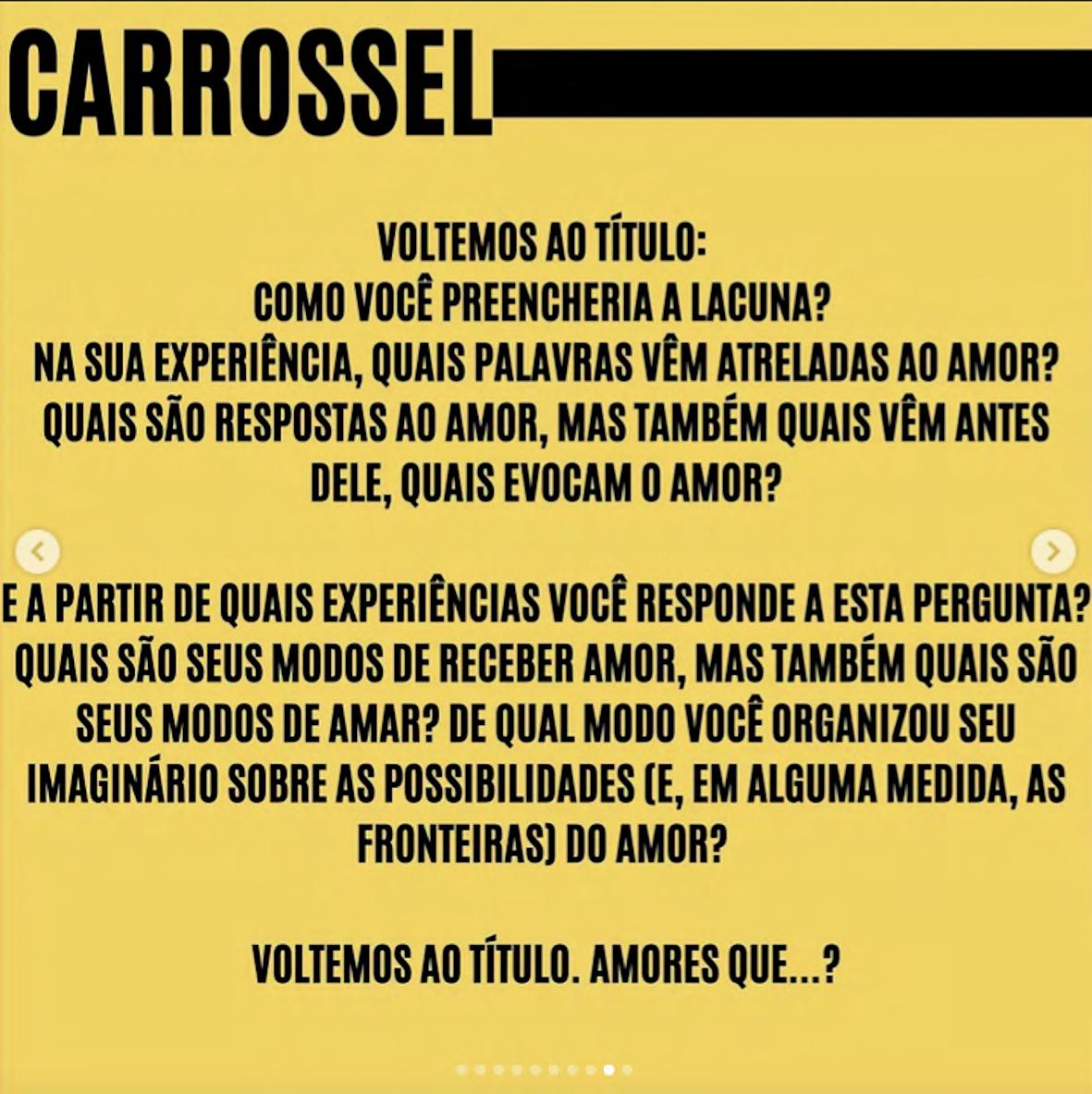






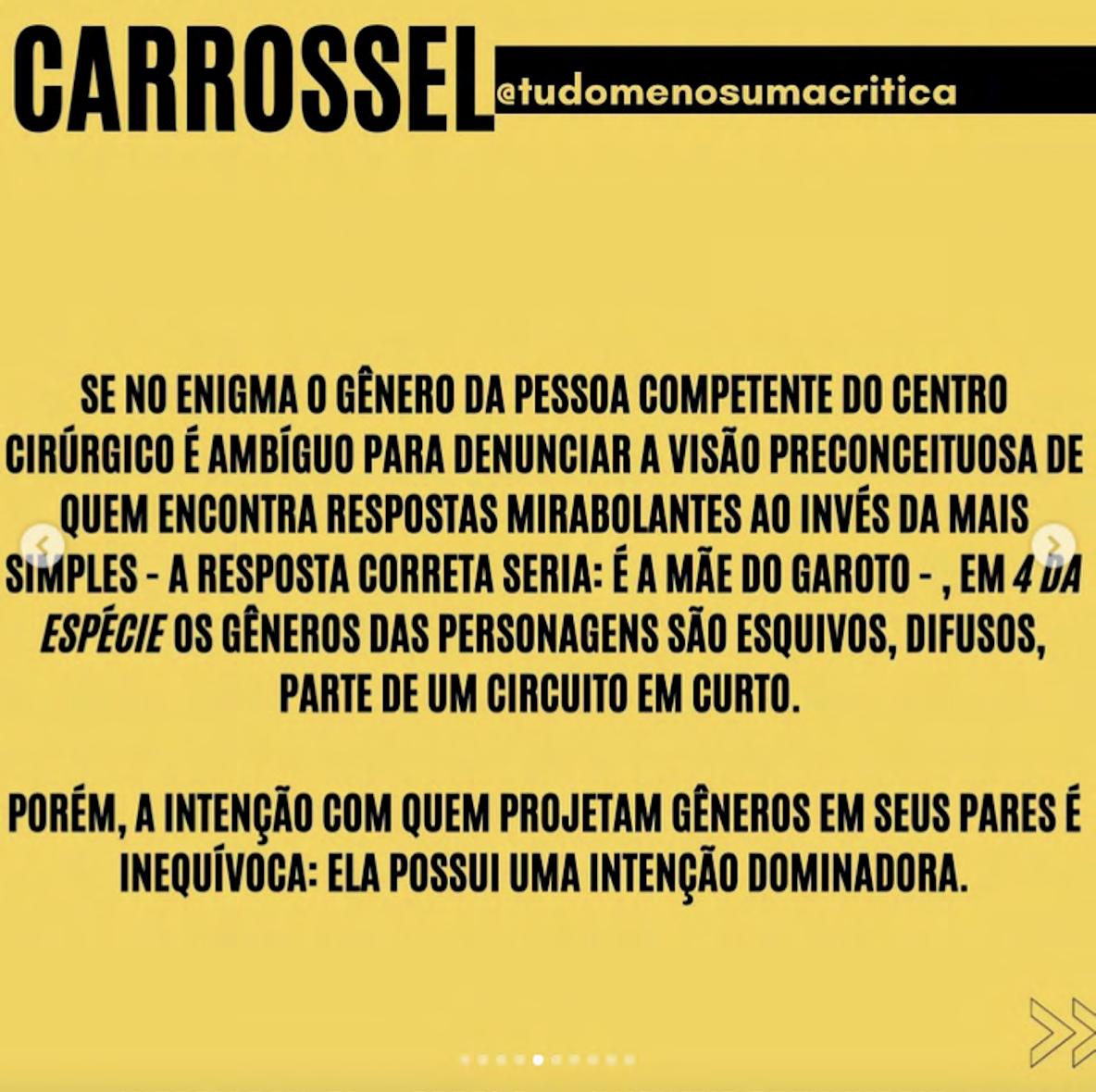
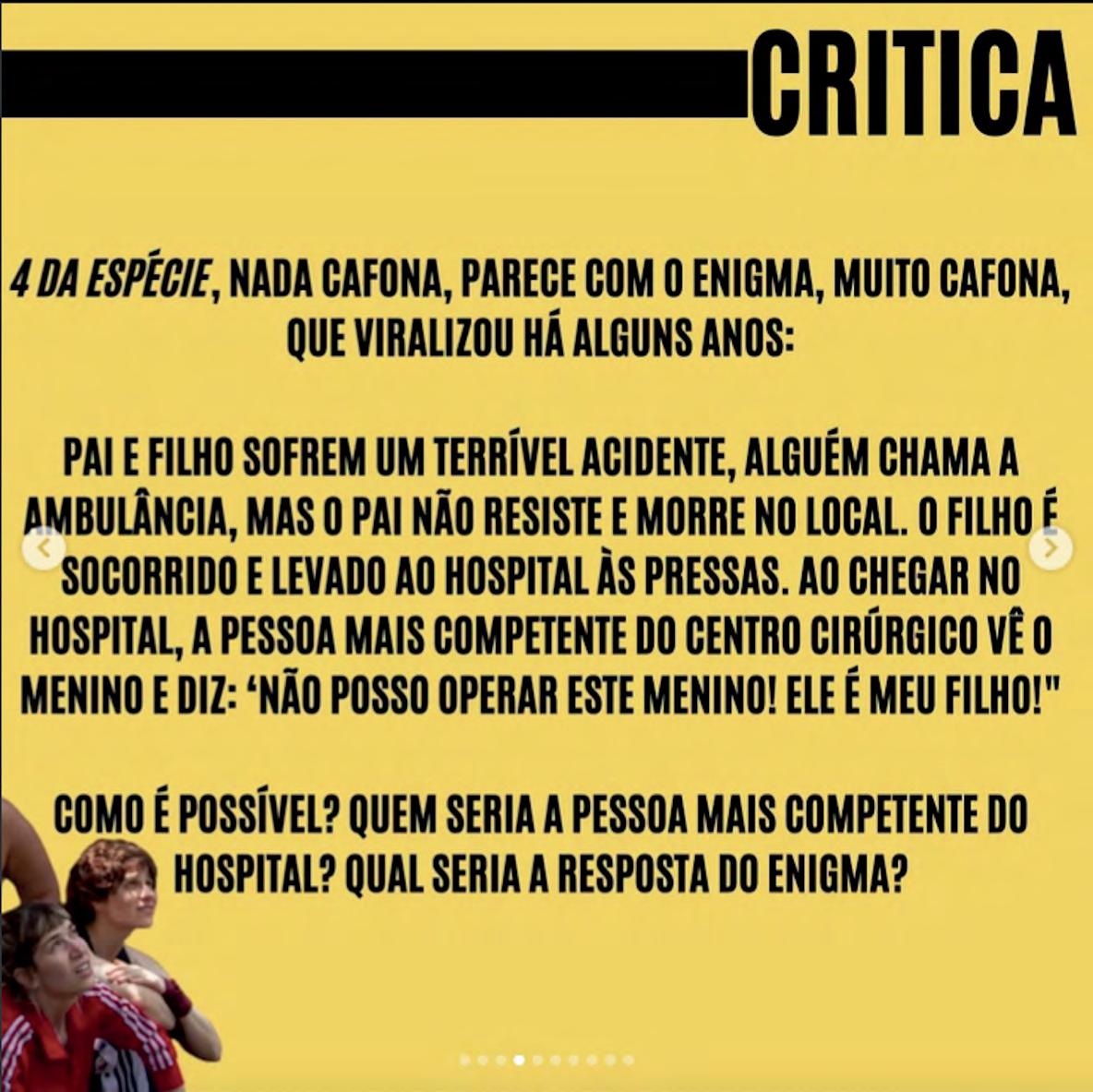
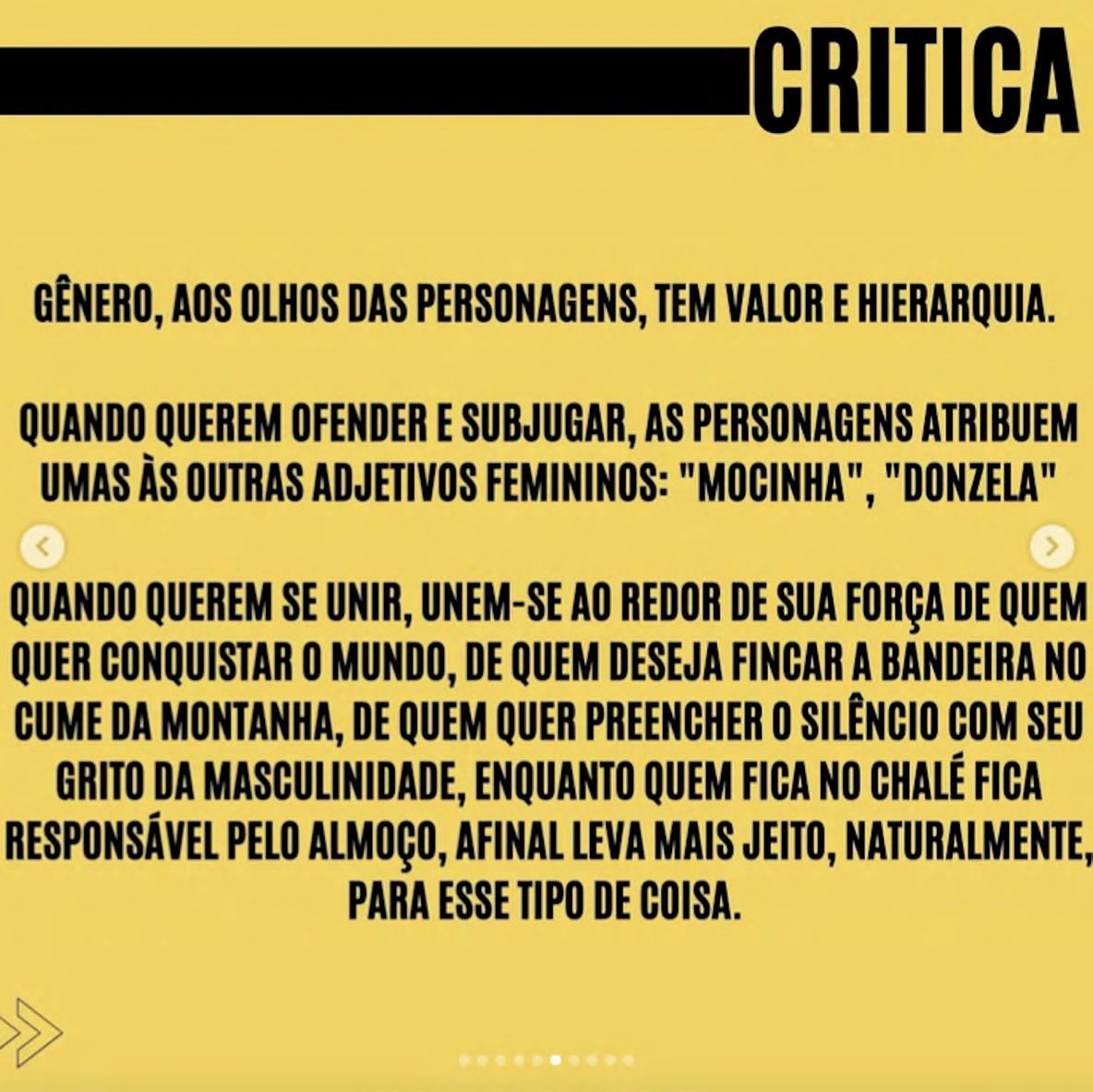
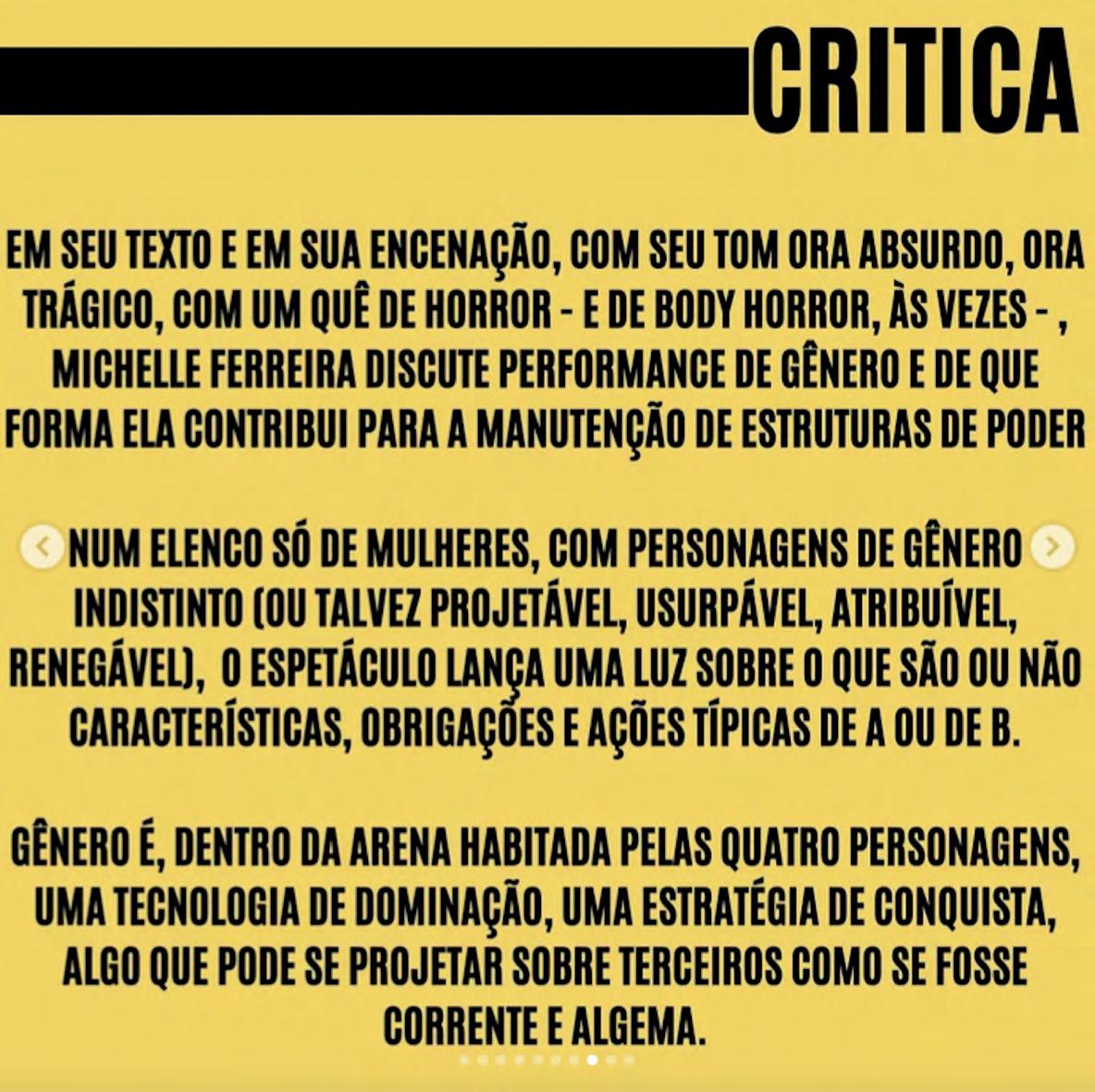
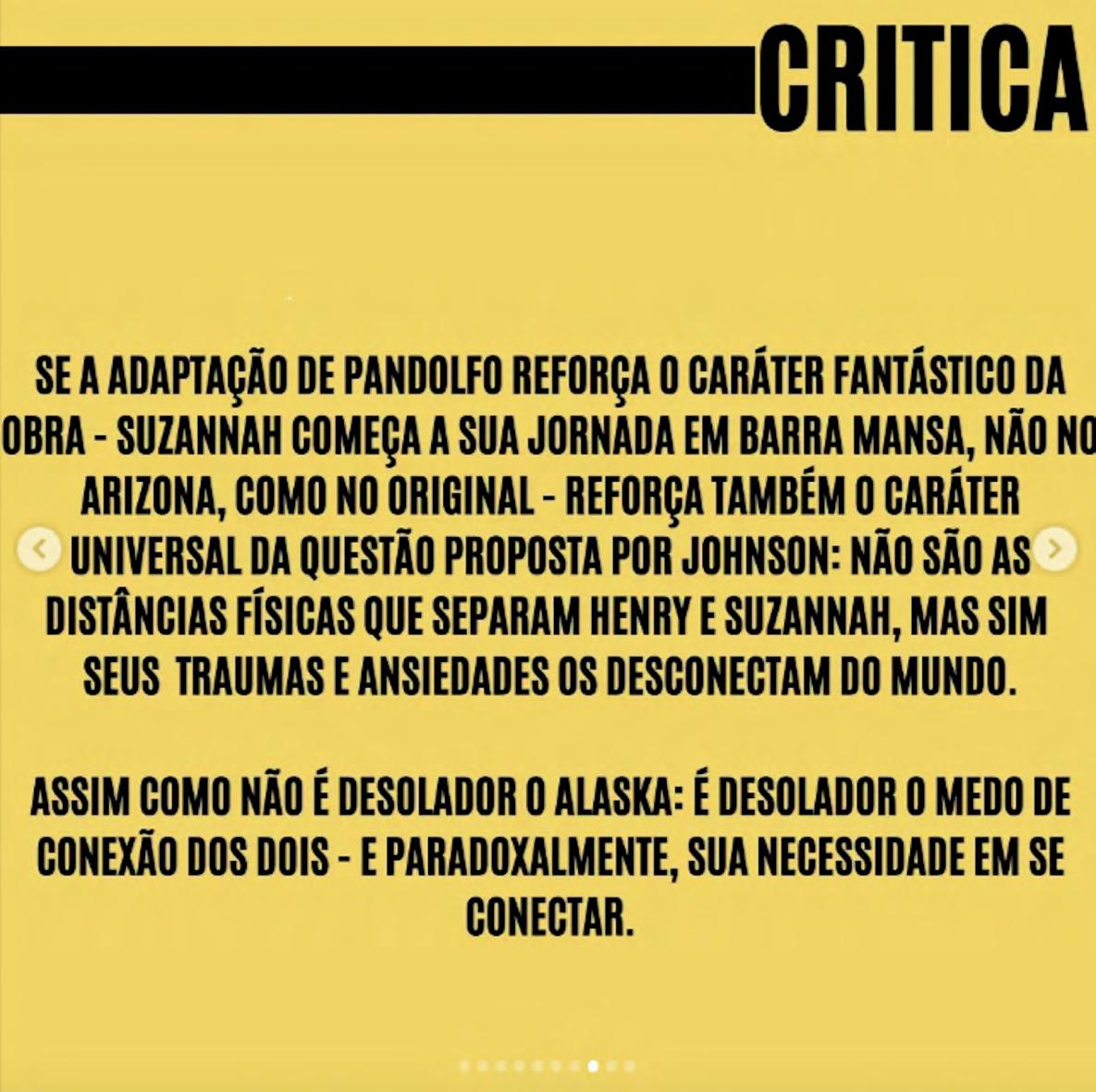
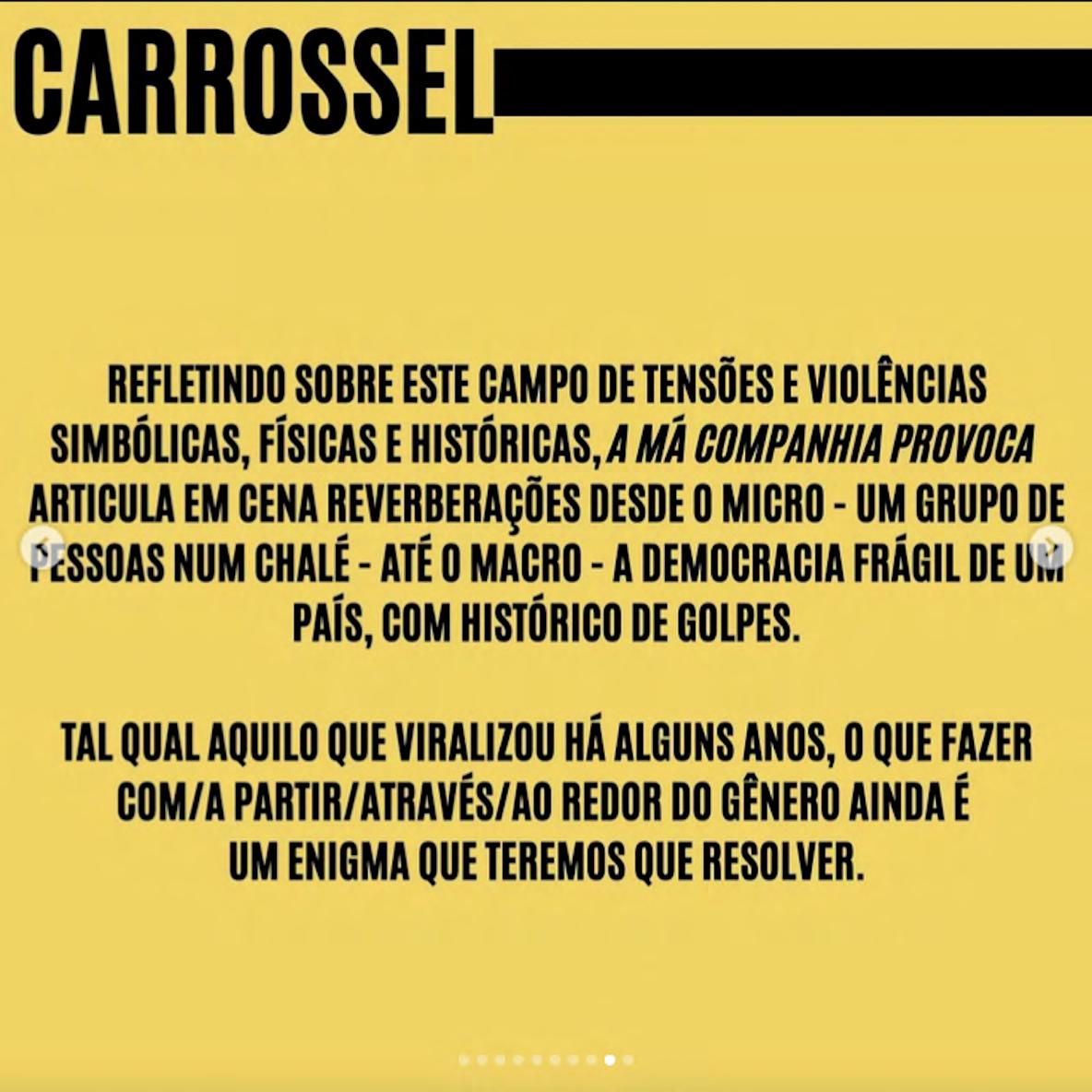


 Foto: Andre Nicolau
Foto: Andre Nicolau


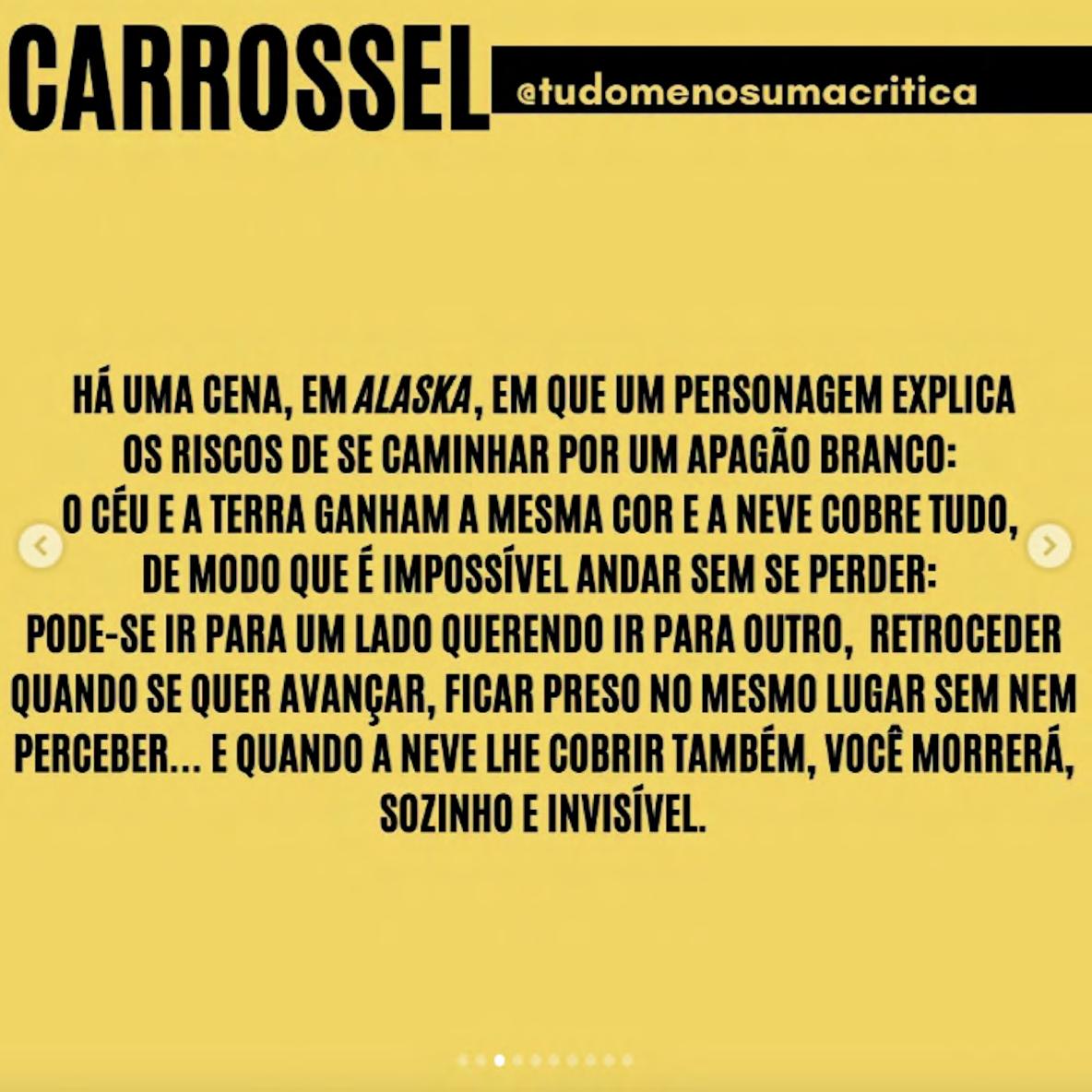
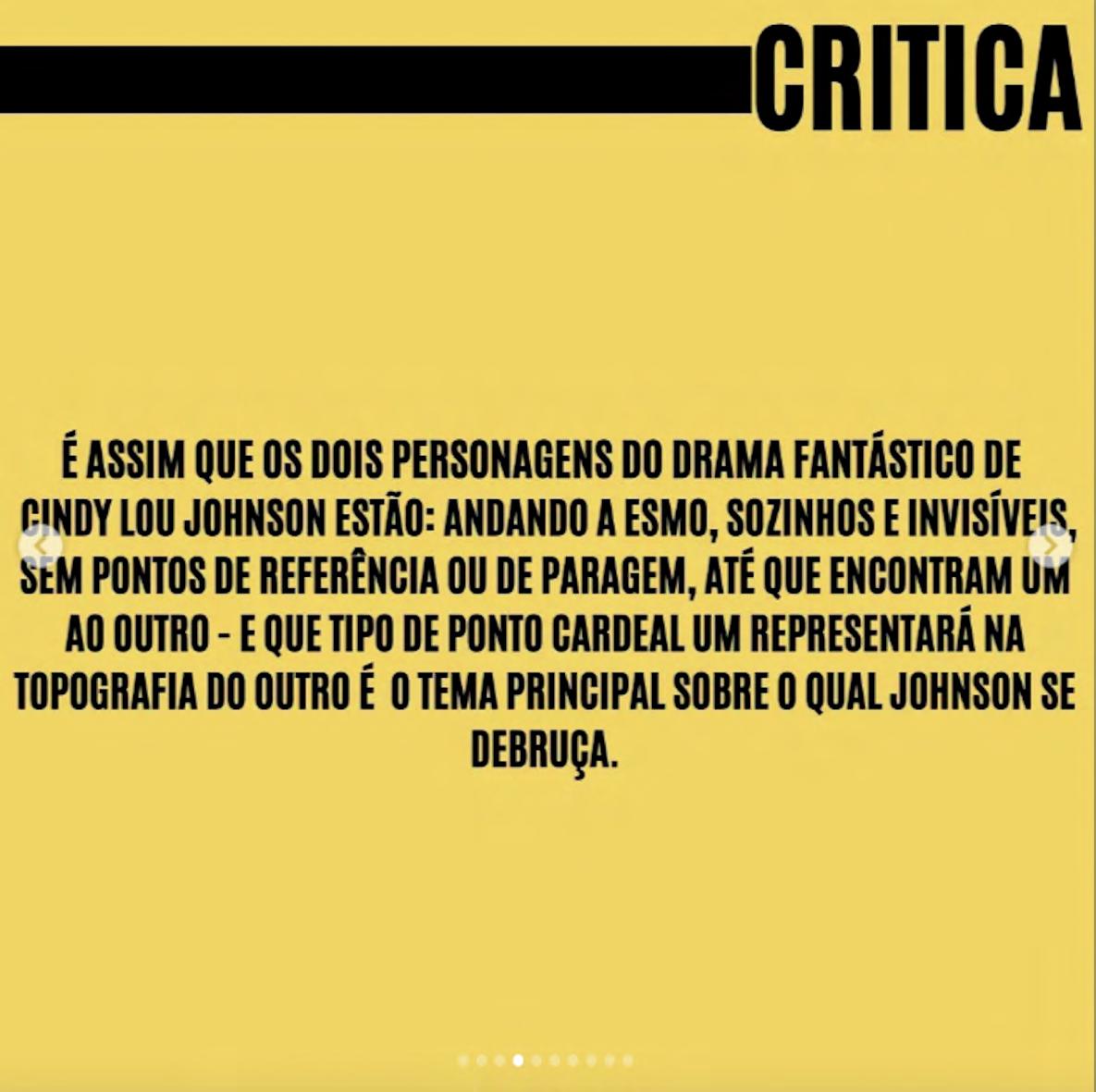
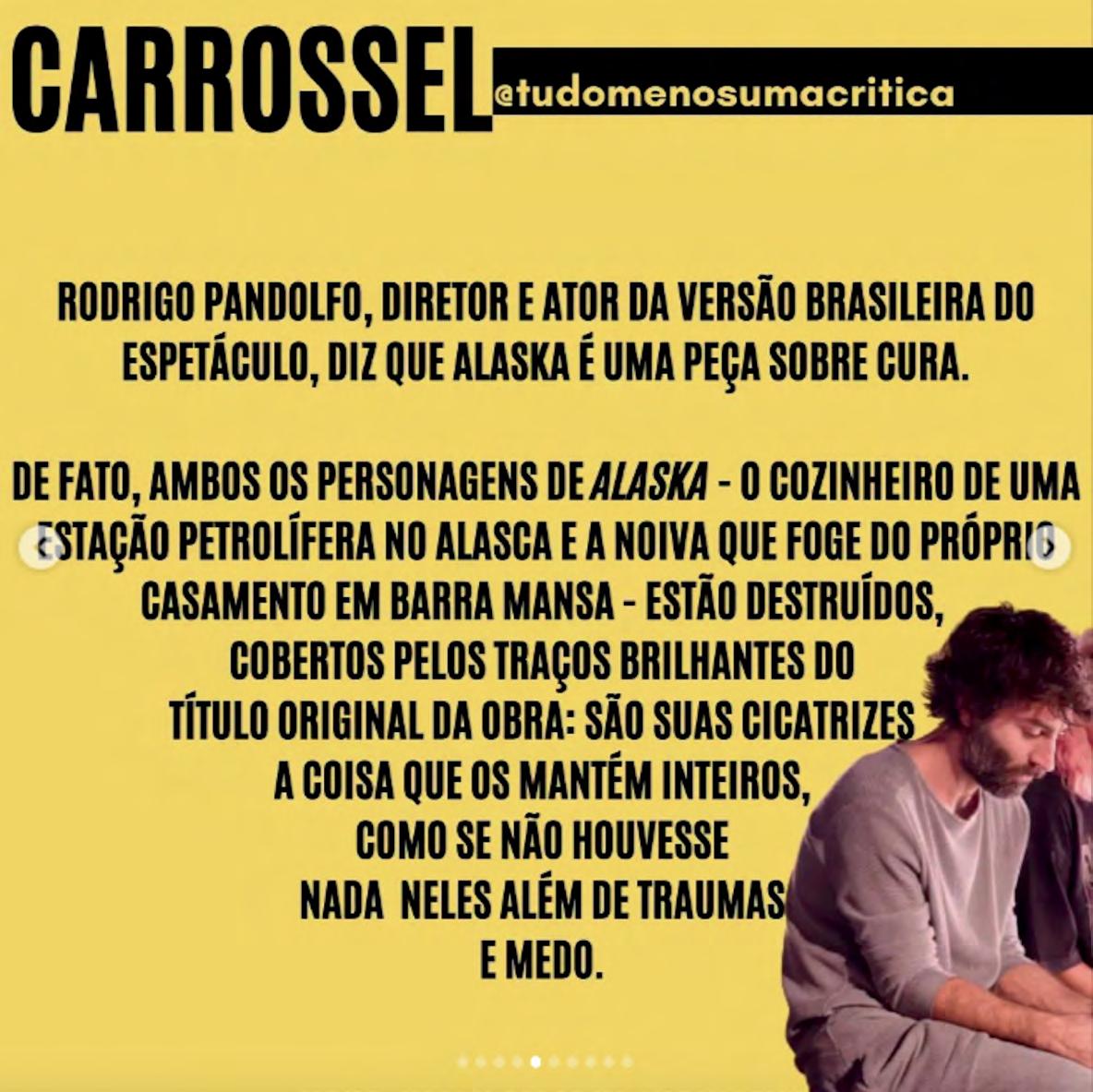


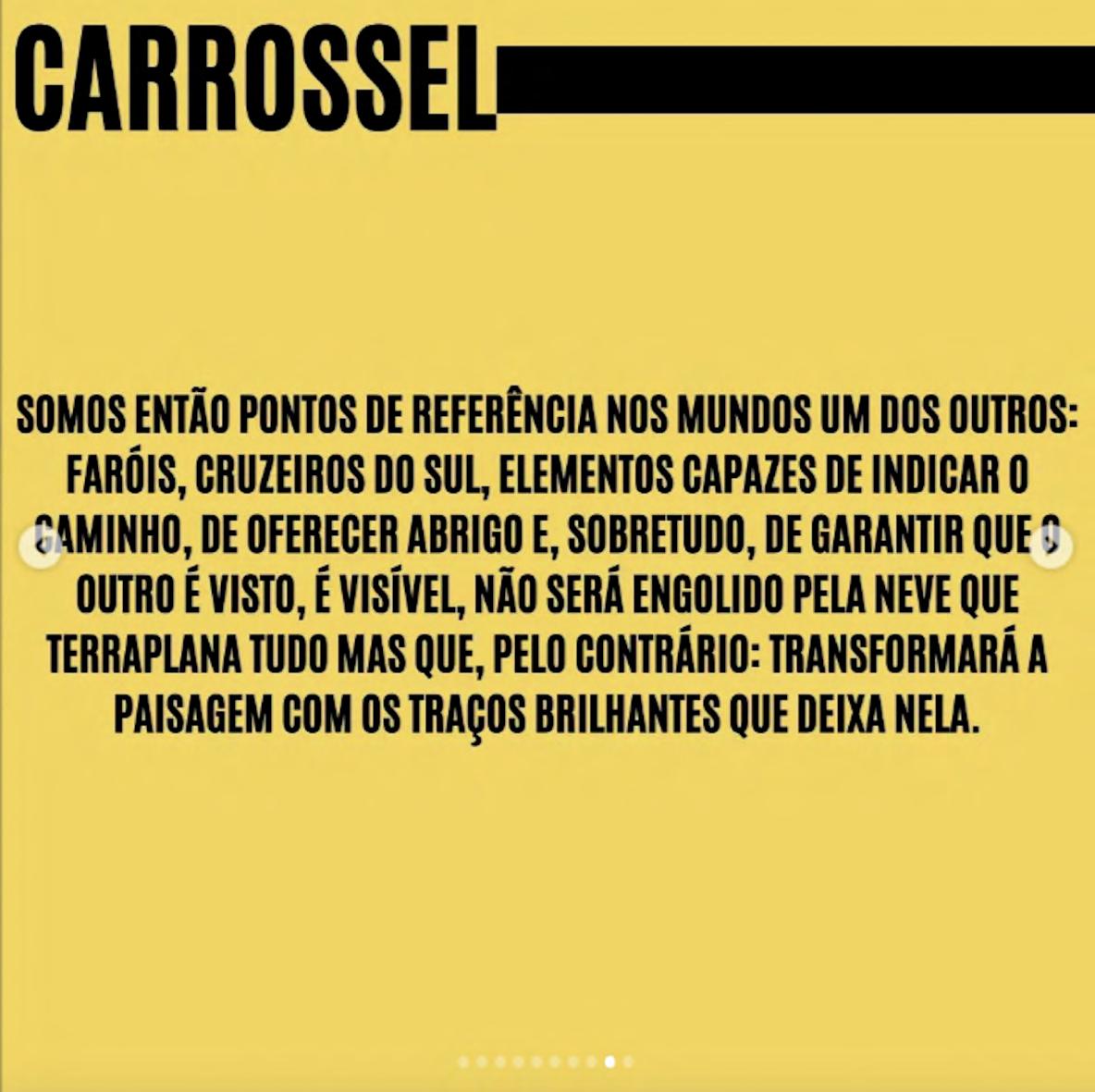





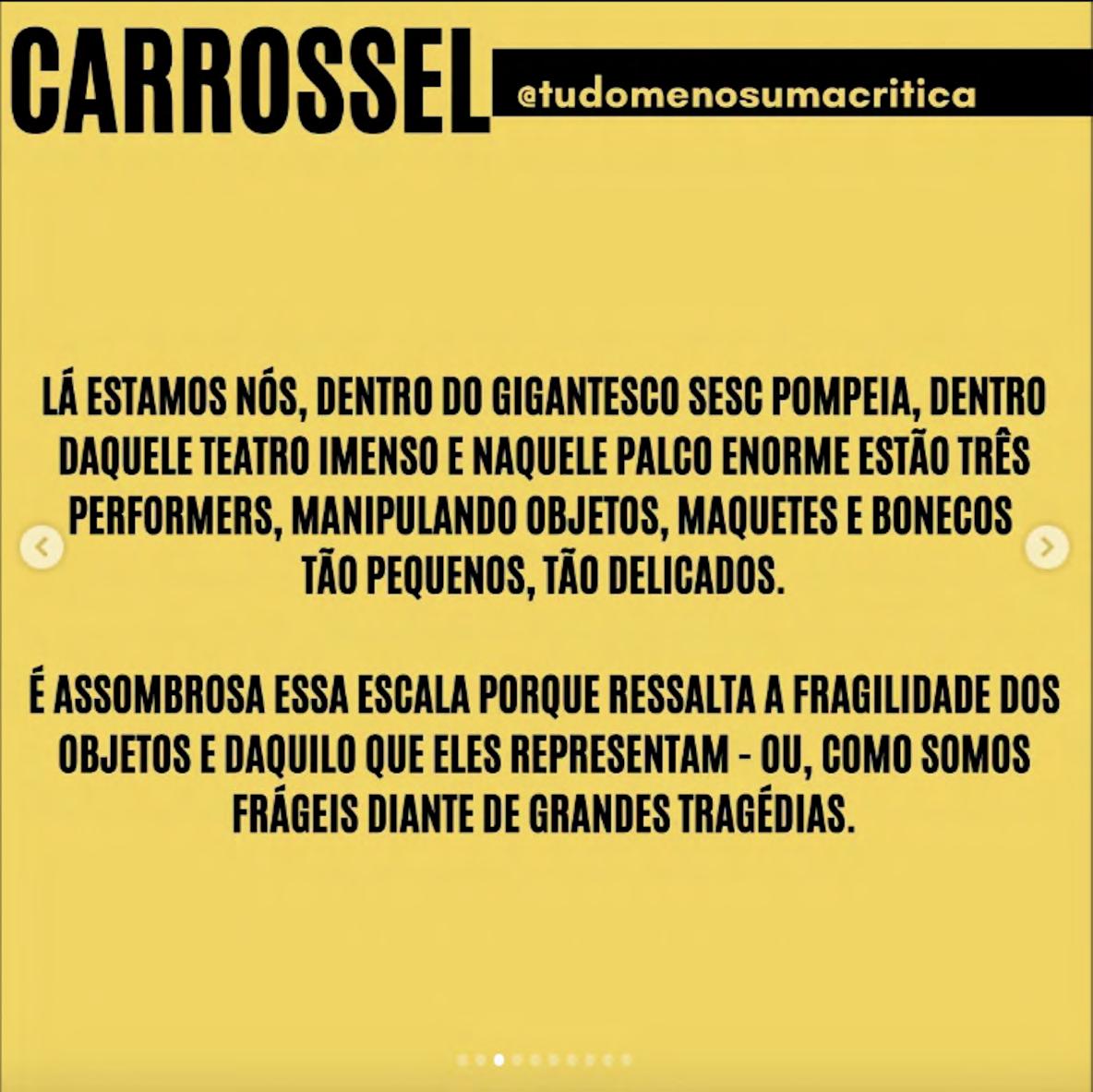


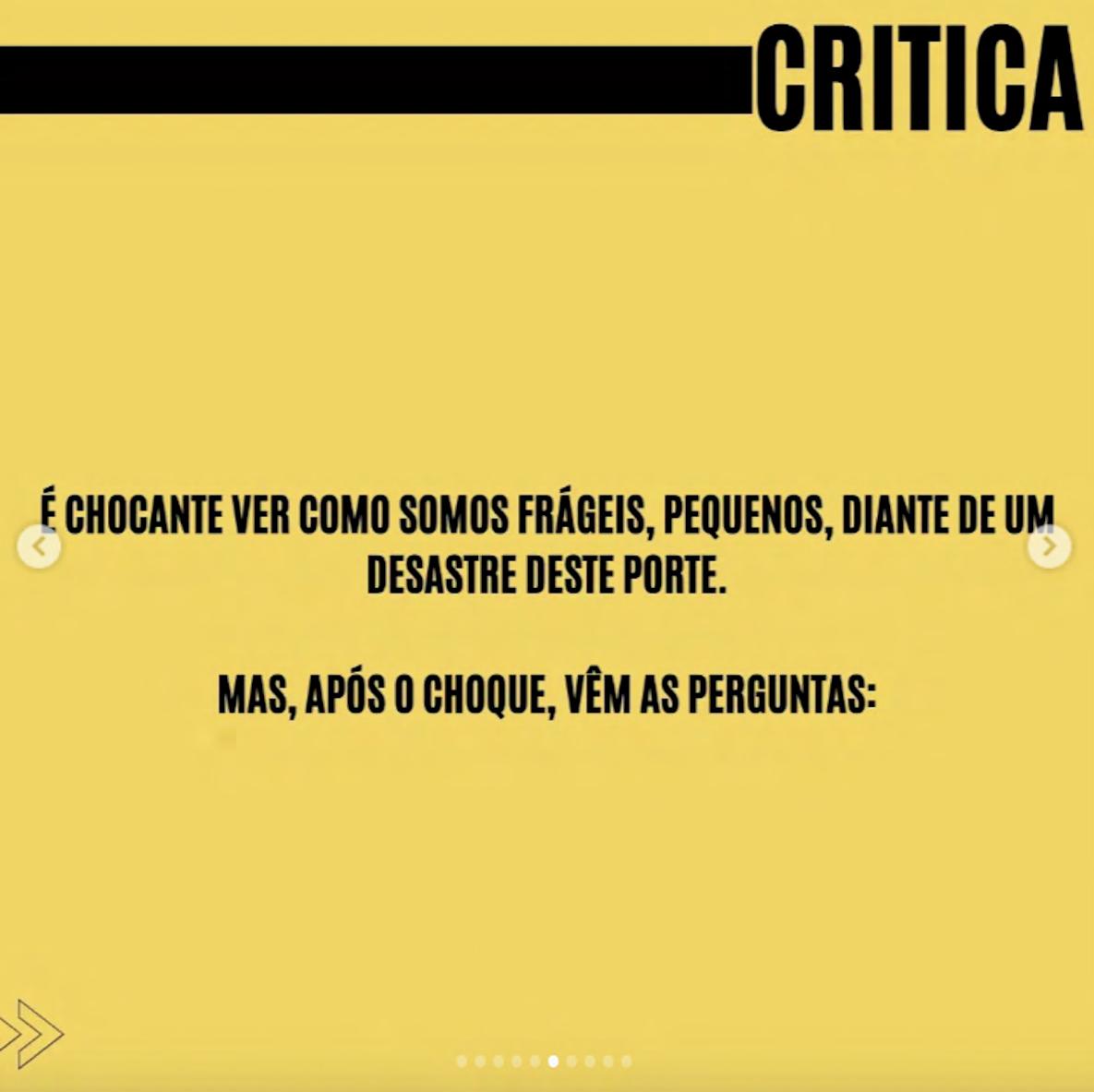

















 Foto: Christophe Raynaud De Lage
Foto: Christophe Raynaud De Lage

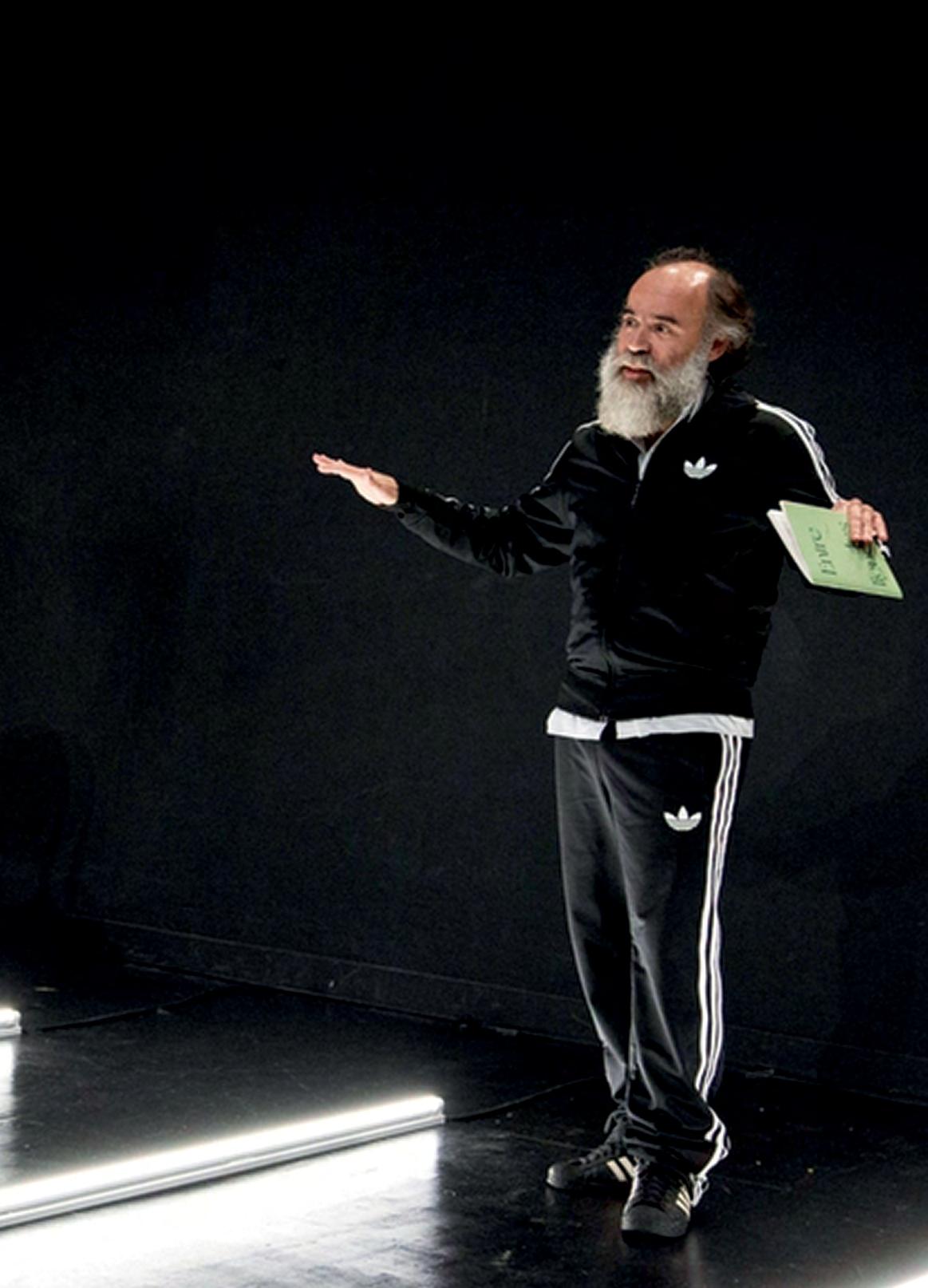 Foto: Mariano Barrientos
Foto: Mariano Barrientos
