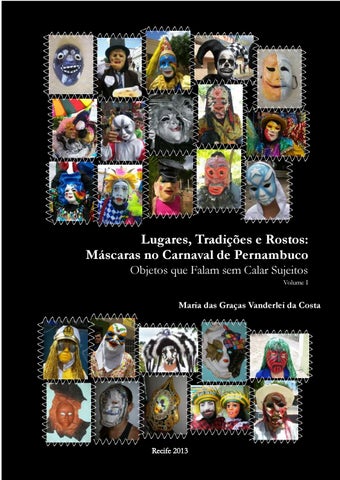vvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvv vvvvvvv annemichel1957@hotmail.com Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos Volume I
Maria das Graças Vanderlei da Costa
vvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv Recife 2013
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA CURSO DE DOUTORADO
Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos Volume I
Maria das Graças Vanderlei da Costa
Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Lopes Nogueira Co-orientadora: Profa. Dra. Fátima Teresa Braga Branquinho
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Antropologia
Recife 2013
Catalogação na fonte Bibliotecária Divonete Tenório Ferraz Gominho, CRB4 -985 V838l
Costa, Maria das Graças Vanderlei da. Lugares, tradições e rostos: máscaras no carnaval de Pernambuco objetos que falam sem calar sujeitos / Maria das Graças Vanderlei da Costa. – Recife : .O autor, 2013. 2.v : il. ; 30 cm. Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Maria Aparecida Lopes Nogueira. Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Teresa Braga Branquinho. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 2013. Inclui referência, apêndices e anexos. 1. Antropologia. 2. Carnaval – Pernambuco. 3. Máscaras. 4. Estética. 5. Memória coletiva. 6. Identidade social. I. (Orientador). II. Título.
390 CDD (22.ed.)
UFPE (BCFCH2013-59)
Maria das Graças Vanderlei da Costa
Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos
Volume I
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Antropologia
Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Lopes Nogueira Co-orientadora: Profa. Dra. Fátima Teresa Braga Branquinho
Recife Dezembro de 2013
Para meus pais, Guilherme e Marlene: terra fĂŠrtil Para meus filhos, Pedro e Fernando: sementes plantadas Para meus filhos, Pedro Jorge e Lucas: frutos recebidos Para meus netos, Guillaume e Pedrinho: brotos florescendo Para meu esposo, Jorge: ĂĄgua, sal, luz... amor.
AGRADECIMENTOS Trago dentro do meu coração, Como num cofre que se não pode fechar de cheio, Todos os lugares onde estive, Todos os portos a que cheguei, Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, Ou de tombadilhos, sonhando, E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)
De que forma poderia expressar minha gratidão a tantas pessoas que participaram da elaboração desse trabalho, como agulhas encantadas que me ajudaram a conduzir os fios da pesquisa, das reflexões, da produção textual... da construção do conhecimento? Como agradecer aos pequenos e grandes atos, repletos de boa vontade, precisão, disponibilidade, dedicação, atenção, conteúdo e que, nos momentos precisos, foram o suporte para a tessitura de uma produção, cuja autoria é assinalada como individual? Proponho que a própria Tese será uma maneira concreta de dizer obrigada, pois, embora seja esta uma elaboração autoral, revela-se como um trabalho construído coletivamente: tear de muitos fios definindo a manta do saber.
A quem agradecer? Aos que durante essa caminhada estiveram muito próximos, e acompanharam, no dia a dia, um fazer regado de incertezas e descobertas. Pessoas queridas que tiveram as almas tatuadas pelas marcas impressas por tantas horas de ansiedade, dedicação, dúvidas, prazeres e revelações. Também àqueles que temporariamente ou fortuitamente compartilharam comigo a tarefa dessa construção e que, de várias maneiras, deram suas contribuições pela presença esporádica, mas contundente. Aos anônimos, participantes desse teatro mágico que é o Carnaval, que, através de encontros fugidios, foram capturados pelas câmeras fotográficas ou tiveram suas palavras, ou seu silêncio, registrados no diário de campo. Mascarados ou não, eles não puderam ser nomeados, pois no tempo festivo eram como partículas significativas dentro da multidão desconhecida: estrelas brilhantes no cosmo infinito da pândega carnavalesca.
Agradeço a todos e em especial... À Jorge, meu esposo, companheiro de vidas: ajuda, carinho, paciência, correções, reflexões, companhia, e cumplicidade... sempre! À Cida Nogueira e Jarbas Araújo, mestres e amigos eternos: orientações e confiança. À Fátima Branquinho, co-orientadora e amiga: acompanhamento e ensinamentos. À Danielle Vilela e Daniele Silva (IFPE/NASEB): trabalhos de design e participação contundente na pesquisa. À Rejane, irmã e amiga de todas as horas: presença e ajuda constante. Ao meu pai Guilherme e minha mãe Marlene: exemplo e apoio. À Pedro (Doca), Lucas, Fernando (Nando), Pedro Jorge, Maité, Guillaume, Maya, Aninha, Marcia, Pedrinho, Carolina (Carol), Guilherme (Guila), Ana, Gabriela (Gaby), Amanda, Ene e Morena: filhos; irmão, noras, netos, cunhada e sobrinhas, prima, tia: torcida organizada! À Edinaldo (Dáda), meu cumpadre: precioso acervo e conhecimentos. À Anne Michel e Jean Smets, irmãos belgas: descobertas no além-mar. Aos professores Antônio Motta, Vânia Fialho, Vitória Amaral, Judith Hoffnagel, Mónica Gutiérrez, Socorro Figueiredo: ensinamentos e incentivo nas bancas de Ensaio e Qualificação, Pré-banca e Banca de defesa de Tese. Aos mestres e funcionários do PPGA, IFPE e CNPQ: apoio didático, administrativo e financeiro. Agradeço especialmente à Adimilda (Miúda) e Carla Neres: disponibilidade e ajuda. Aos colegas do IFPE, em especial Patrícia, Elizete e Eduardo: paciência e apoio. À Marcelo, Nonato, Abel, Flavinha, Sandrinha, Socorro, Normando, Luciano, George, Fátima (Pipoquinha) João, Léo, Sávio, Paulinha, Thácio, Eduardo Sarmento, Marjones, Eduardo Romero e demais colegas, amigos, companheiros de caminhada: troca de sentimentos e aprendizagens. À Carlos André (NASEB), Patrícia Lima (NASEB): participação na pesquisa. À Murilo Albuquerque, Robeval Lima, Fabiano Galindo, Ana Maria, Renato, Josy, Celso Brandão, Claudenize Santos, Joelma Silva, Zé Pedro, Marília Gabriela, mestre Beijamim Almeida, Luzinete, Júlio Pontes, Fred Braga, Jussara, Josival Vicente, Fernando Pires, Alberto Virgílio, Gastão Cerquinha, Josinaldo Barbosa, Lúcia Nogueira, Jõao Bosco, mestre Lula Vassoureiro, Zé Pedro, Aluísio Almeida e tantos outros brincantes, moradores, turistas e gestores: depoimentos, fotos, revelações, informações, conhecimento e disponibilidade. Às máscaras e mascarados: emoção e encantamento. À Deus e mentores espirituais: força, presença e esperança.
i
RESUMO Dentre as diversas brincadeiras que compõem o Carnaval pernambucano, os folguedos dos mascarados destacam-se pela riqueza imagética: uma tradição viva que envolve brincantes, moradores e visitantes. Um perene processo de formação, transformação e ampliação de grupos insere os participantes em uma lógica de identificação com o movimento da Cultura da Tradição. O universo simbólico e a estética que cercam os folguedos marcam a memória dos indivíduos e dos lugares, acionando construções identitárias em função da visibilidade dos mascarados, que se tornam representantes das cidades. A máscara é elemento primordial para a formação de uma teia de entendimentos sobre as relações que constroem a dinâmica das brincadeiras. Seguindo uma opção teórico-metodológica pautada nos direcionamentos da teoria ator-rede, no âmbito da Antropologia das Ciências e das Técnicas, reconheci a máscara como objeto-sujeito e visualizei a existência de uma rede sociotécnica que a envolvia. As máscaras narraram histórias sobre mudanças e permanências, amenidades e controvérsias, sob a égide de uma tradição compartilhada. Formatando a Cartografia das máscaras nos 185 municípios de Pernambuco, escolhi como referencial empírico, para um maior aprofundamento da pesquisa, as centenárias brincadeiras dos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira. Bezerros, conhecida como a Terra dos Papangus, vivencia um grandioso Carnaval: um espetáculo de proliferação de imagens, propagado pela indústria cultural e de turismo. Os Tabaqueiros têm uma visibilidade ainda restrita ao âmbito local, porém ampliada a cada ano, num processo de reconhecimento da importância da brincadeira. O estalido dos chicotes, o silêncio enigmático dos brincantes, a beleza e criatividade das fantasias, o som dos chocalhos e a força das máscaras despertam sentimentos e provocam emoções. Partindo das peculiaridades dos lugares onde se desenvolvem os folguedos, segui uma trajetória construída sobre os alicerces das recorrências temáticas que afloraram do intenso trabalho etnográfico e auxiliaram o direcionamento de meu olhar. O segredo, o medo, a vaidade e o prazer foram como fios que desenharam uma manta de conhecimento e entendimento, bordando a vida e a história dos brincantes, dos lugares e das máscaras.
Palavras-chave: Carnaval. Imaginário. Estética. Tradição. Máscara. Memória. Identidade. Identificação. Ator-Rede.
ii
ABSTRACT
Among the many amusements which compose the Carnival festivals in Pernambuco, the folklore rests of masked players stand out for their imagery wealth: a very alive tradition that involves gamers, residents and visitors. A perennial process of formation, transformation and enlargement of groups takes the participants into a logic of identification with the movement of the Culture of Tradition. The symbolic universe, and the aesthetics surrounding the rests, mark the memory of people and places, and triggers the identity constructions in function of the visibility of the masked ones, who come to be representative of the villages. The mask is the primal element for the webbing of understandings about the relations that build the dynamics of games. By following a theoretical-methodological option based on Actor-Network Theory (ANT) guidelines, in the context of the Anthropology of Sciences and Techniques, I have recognised the mask as object-subject, and I have visualised the existence of a socio-technical network that has it intertwined. The masks storytell us on changes and continuities, amenities and controversies under the aegis of a shared tradition. After drawing down a Mask Mapping of 185 municipal districts of Pernambuco, I choosed as an empirical reference for further development of research, the old games of Papangus, from Bezerros, and Tabaqueiros, from Afogados de Ingazeira. Bezerros, known as the Land of Papangus, experiences a grandiose Carnival: a spectacle of proliferation of images propagated by the cultural and touristic industry. The Tabaqueiros’s visibility is still locally restricted, but expanding each year, as a process of recognition of the importance of the folk game. The crack of whips, the enigmatic silence of revelers, the beauty and creativity of the costumes, the sound of rattles and the strength of the masks evoke feelings and provoke emotions. Starting from the peculiarities of the places where they develop the festivities, I followed a path built on the foundations of thematic recurrences that have surfaced from the intense ethnographic work and helped me to give my view the right direction. Secret, fear, vanity and pleasure were like threads of a blanket of knowledge and understanding, embroidering the life and history of the revelers, the places and the masks.
Key words: Carnival. Imaginary. Aesthetics. Tradition. Mask. Memory. Identity. Identification. Actor-Network.
iii
RÉSUMÉ
Parmi les nombreux jeux composant le Carnaval de Pernambuco il y a les folguedos avec les fêtards masqués qui outre leur richesse imagée ont donné naissance à une tradition vivante qui implique fêtards, résidents et visiteurs.Un processus perpétuel de formation, transformation et expansion des groupes insère les participants dans une logique d’identification aux mouvements de la Culture de la Tradition. L'univers symbolique et l’esthétique autour des festivités marquent la mémoire des personnes et des lieux, déclenchant des constructions identitaires et la visibilité des personnes masquées qui deviennent représentants de leurs villes. Le masque est un élément majeur dans la formation d'une série d'accords sur les relations qui renforcent la dynamique des jeux.Suivant une orientation théorico-méthodologique de classement de la théorie de l'acteur réseau dans le cadre de l'anthropologie des sciences et des techniques, j’ai reconnu le masque comme objet-sujet et j’ai visualisé l'existence d'un réseau sociotechnique qui l’impliquait.Les masques racontent des histoires sur les changements et les continuités, sur les courtoisies et les controverses, le tout sous l'égide d'une tradition partagée. Cartographiant les masques dans les 185 municipalités de Pernambuco, je choisis comme référence empirique, pour un approfondissement de la recherche, les jeux centenaires de Papangus de Bezerros et de Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira.Bezerros, connue comme la Terre des Papangus connait un Carnaval grandiose: un spectacle de prolifération imagée propagée par l'industrie culturelle et touristique. Les Tabaqueiros ont une visibilité encore limitée au niveau local, mais s’amplifiant chaque année par un processus de reconnaissance de l'importance du jeu. Le claquement des fouets, le silence énigmatique de fêtards, la beauté et la créativité des costumes, le son des hochets et la force des masques évoquent des sentiments et provoquent des émotions.Débutant par les particularités des lieux où se développent les festivités, j’ai suivi un parcours construit sur les fondations des récurrences thématiques qui apparaissent dans un travail ethnographique intense et qui m’ont orienté. Le secret, la peur, la vanité et le plaisir étaient comme les fils d’une couverture de connaissance et de compréhension, brodant la vie et l'histoire des fêtards, des lieux et des masques.
Mots-clés: Carnaval. Imaginaire. Esthétique. Tradition. Masques. Mémoire. Identité. Identification. Acteur-réseau.
iv
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AAB
Associação dos Artesãos de Bezerros
ACAI
Aeroclube de Afogados da Ingazeira
AEDAI
Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira
ANT
Actor -Network- Theory
ASA
Associação Sivonaldo Araújo
CECOSNE
Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste
CPF
Cadastro de Pessoa Física
FAFOPAI
Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira
FERSAN
Festival Regional de Sanfona
FENEARTE
Feira Nacional de Negócios do Artesanato
FUNCULTURA
Fundo de Incentivo à Cultura
FUNDARPE
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco
IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFPE
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Pernambuco
NASEB
Núcleo Ariano Suassuna de Estudos Brasileiros
PRC
People's Republic of China
PNMT
Programa Nacional de Municipalização do Turismo
PPGA
Programa de Pós-Graduação em Antropologia
RD
Região de Desenvolvimento
RMR
Região Metropolitana do Recife
SNC
Sistema Nacional de Cultura
UFPE
Universidade Federal e Pernambuco
v
SUMÁRIO COMEÇANDO TECER...
14
Como um Trabalho Artesanal
16
Desenhando a Trama
17
A Escolha dos Fios
21
Construindo a Teia
23
Configurando a Manta
33
PARTE 01: Lua Nova
39
1. LUGARES E TRADIÇÕES
41
1.1 As Cidades: Construídas e Reveladas
43
1.1.1 Bezerros: Proximidade da Capital
49
1.1.2 Seguindo para o Sertão: Afogados da Ingazeira
55
1.2 Festas: a Tradição que Reencanta
64
1.2.1 Carnaval: a Festa das Emoções
69
1.2.2 Bezerros: o Carnaval que se Amplia
75
1.2.3 Afogados da Ingazeira: Carnaval em Movimento
79
1.3 Ser e Estar: Identidades Plurais
87
1.3.1 O Lugar do Sujeito: Diversidade de Papéis
90
1.3.2 Os Sujeitos e os Lugares: Sentidos de Pertencimento
93
1.3.3 Identidades Construídas: Cidades dos Mascarados
95
1.3.4 Bezerros: Terra dos Papangus; Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros
99
2.ROSTOS E MÁSCARAS
106
2.1 Memória: Lembranças e Esquecimentos
108
2.1.1 Os Mitos de Origem: Verdades Revividas
111
2.1.2 A Origem dos Folguedos: as Histórias Encantam a História
115
2.1.3 Dos Papa-Angus aos Tabaqueiros: Papangus de Todos os Tempos
120
2.2 Máscaras: Magia e Mistério
126
2.2.1 Objeto: Quase-sujeito
130
2.2.2 Vida nos Ateliês: Construindo Saberes e Fazeres
136
2.2.3 A Arte das Máscaras: Conhecimento, Técnica e Trabalho
148
vi
PARTE 02: Lua Crescente
160
3. CARTOGRAFIA DOS MASCARADOS
162
3.1 Seguindo as Linhas: Construindo Teias
164
3.1.1 Apresentando os Mascarados: Brincadeiras de Ontem e Hoje
168
3.1.2 A Revelação dos Mapas: a Dinâmica dos Objetos
182
4. O SEGREDO: JOGO DO MASCARAMENTO
209
4.1 O Campo do Segredo
211
4.1.1 A Máscara: Vivendo o Anonimato
212
4.1.2 Os Segredos de Cada Carnaval
214
4.2 Máscara: Possibilidade de Ser “um Outro” 4.2.1 O que Revela e o que Esconde: Quebrando Grilhões
227 229
PARTE 03: Lua Cheia
238
5.O MEDO: FEIO OU PERTURBADOR?
240
5.1 O Universo do Medo
242
5.1.1. Ordem e Desordem: Duas Faces da Moeda
245
5.1.2 Carnaval: Liberdade Tolerada na Brincadeira Coletiva
249
5.2 Da Commedia dell'arte aos Folguedos dos Mascarados 5.2.1 A Beleza do Feio: Dos Primórdios das Brincadeiras à Dinâmica Atual
255 261
6. A VAIDADE: FAZER-SE VER
270
6.1 Os Labirintos da Vaidade
272
6.1.1 Sedução: A Linguagem das Brincadeiras
274
6.1.2 Espelho, Espelho Meu: A Beleza do Belo
285
6.2 Espetacularização: Sob os Flashs e Holofotes
291
6.2.1 Concurso: o Desfile da Vaidade
296
6.2.2 Papangus: de Bezerros para o Mundo
301
6.2.3 Brincadeira de Homem: Toque de Mulher
303
PARTE 04: Lua Minguante
309
7.O PRAZER: PODER DA IDENTIFICAÇÃO
311
7.1 Os Caminhos do Prazer
312
vii
7.1.1 Identificação e Sentido: Satisfação Coletiva
316
7.1.2 Ciclo da Dádiva: Alimentando a Alma
323
7.1.3 Último Carnaval: o Prazer de mais uma Folia
329
8. MOVIMENTO DA TRADIÇÃO
338
8.1 Objetos que Falam sem Calar Sujeitos
340
8.1.1 Burburinho da Tradição
348
8.1.2 Filamentos que Tecem: Rede Sociotécnica
354
8.2 Categorização das Máscaras: Imaginário a Olhos Vistos 8.2.1 Do Local ao Universal: Campo no Além-mar
369 390
CONTINUANDO A TECER...
402
Seguindo o Fio
404
Percorrendo o Labirinto
409
Visualizando a Saída
414
BIBLIOGRAFIA
422
Referências Bibliográficas
423
Bibliografia Consultada
435
APÊNDICES
439
APÊNDICE A - Mapa das Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco
440
APÊNDICE B - Informantes
453
APÊNDICE C - Itinerário para Bezerros e Afogados da Ingazeira
458
APÊNDICE D - Limites dos Municípios de Bezerros e Afogados da Ingazeira
459
APÊNDICE E - Ficha 01: Pesquisa Máscaras e Mascarados de PE -NASEB
460
APÊNDICE F – Ficha 02: Pesquisa Máscaras e Mascarados de PE-NASEB
461
APÊNDICE G - Prazeres do Campo
462
APÊNDICE H - Artesãos-Artistas/ Ateliês – Bezerros
463
ANEXOS.
466
ANEXO A - Propaganda Institucional
467
ANEXO B - Folders Loja de Máscaras - Veneza
468
14
COMEÇANDO A TECER...
O conhecimento avança à medida que o seu objecto se amplia, ampliação que, como a da árvore, procede pela diferenciação e pelo alastramento das raízes em busca de novas e mais variadas interfaces. (SOUSA SANTOS, 1988, p.17). A natureza gira, de fato, mas não ao redor do sujeitosociedade. Ela gira em torno do coletivo produtor de coisas e seres. O sujeito gira, de fato, mas não em torno da natureza. Ele é obtido a partir do coletivo, produtor de homens e coisas. O Império do Centro se encontra, enfím, representado. As naturezas e sociedades são seus satélites. (LATOUR, 2009, p.78).
Começando a Tecer...
15
A mitologia grega nos conta que o rei Minos, da ilha de Creta, após a misteriosa morte de seu filho único na cidade de Atenas decidiu, como castigo, oferecer anualmente sete rapazes e sete moças atenienses em sacrifício ao monstro Minotauro. Este, meio homem, meio touro, morava num labirinto, construído por Minos na ilha de Creta. Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas, resolveu corajosamente enfrentar o Minotauro, dedicando essa vitória ao seu pai. Como obra do destino, Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por Teseu e tentou persuadi-lo a desistir da batalha contra o monstro. Temia que ele se perdesse no labirinto, como outros que tentaram enfrentar o Minotauro. Não conseguindo fazer seu amado desistir da empreitada, lhe entregou um novelo de fio para que o desenrolasse no circuito percorrido dentro do labirinto, encontrando o caminho de volta, após derrotar o monstro. Seguindo as orientações de Ariadne, Teseu estendeu o fio durante o seu percurso. Alcançando seu objetivo, matou o Minotauro, retirando-lhe um punhado de cabelos, como prova de sua conquista. Assim, seguindo o fio, conseguiu facilmente encontrar o caminho de volta. Ao receber os cabelos do monstro das mãos de Teseu, Minos perdoou Atenas e entregou Ariadne ao jovem herói ateniense. (GRIMAL, 2009; AQUINO, 2007).
Começando a Tecer...
16
Como um Trabalho Artesanal...
Os fios que teceram esse trabalho possuíam várias espessuras, muitas cores, diversas texturas, infinitas formas, amplas atuações. Possibilitaram, verdadeiramente, a existência de tramas, teias, redes, tecidos, suportes que envolveram ou embasaram um tempo de aprendizagens, conquistas e descobertas. Como os fios de Ariadne, muitos elementos indicaram caminhos,
quando
algumas
vezes
eu
percorria
labirintos
desconhecidos, que pareciam impenetráveis ou sem saída. Como os tênues filamentos de uma teia, cada informação construiu ao mesmo tempo, morada e armadilha, dando-me proteção e conteúdo, para que eu pudesse dar continuidade à pesquisa com segurança e propriedade. Como os resistentes nylons com os quais os pescadores criam suas redes, os transparentes fios das relações formatavam meu instrumento de trabalho, a base para que eu pescasse o alimento, os dados que nutriram minha fome de saber. Como as linhas que costuram as fantasias e que bordam com lantejoulas e miçangas reluzentes as indumentárias dos brincantes, as lembranças dos informantes formaram um tecido cheio de brilho e cor, iluminando meu percurso. Como as fibras que produzem os papéis e que constroem uma massa espessa para a criação das máscaras, os temas recorrentes foram como cimento juntando peças de um quebra-cabeça. Como as ligações imperceptíveis que formam as redes presenciais e virtuais, cada pensamento de autores e estudiosos formatou os elos necessários à criação do trabalho. Como as fibras dos teares e os fios usados pelas bordadeiras e tecelãs, os mitos, a poesia e a prosa tornaram-se operadores cognitivos, fermento para a criação. Como as veias que permitem a circulação nos corpos em movimento, cada cidade visitada, cada novo encontro, cada amizade construída, constituíram a seiva para o desenvolvimento da pesquisa. Como as ramas da vegetação que se entrelaçam tecendo mantas verdejantes, as palavras ouvidas, ditas, gravadas, repetidas e Começando a Tecer...
17
escritas desenharam a teia do texto etnográfico. Assim,
como
em
um
trabalho
artesanal,
utilizei
incansavelmente os fios dados e conquistados e com eles construí tramas, teias, redes, tecidos e suportes. Certamente eu própria participei dessa construção-reconstrução, pois hoje reconheço as marcas deixadas em mim, nesse processo transformador: bordados na pele e na alma. Desenhando a Trama
O Nordeste Brasileiro possui um importante manancial de riquezas culturais marcado pela diversidade de sua geografia e pelas peculiaridades de seu povo. Em Pernambuco, fazendo uma trajetória do litoral ao sertão, pode-se presenciar um admirável conjunto representativo dessas manifestações: poesias retratadas no repente e no cordel; brincadeiras de rua que unem as crianças; cantigas que falam da vida nos lugares; folguedos que encantam pela riqueza de formas e cores. No agreste e sertão pernambucano a dureza do clima apresenta-se refletida no solo pedregoso, na vegetação retorcida, nas altas temperaturas dos verões causticantes que imprimem um cotidiano difícil a seus habitantes. Em contrapartida, essas pessoas vivenciam intensamente as festas, como forma de superação das adversidades, de manutenção dos laços de parentesco e vizinhança, de
[1] Uso a expressão Cultura da Tradição afastando-me do conceito de Cultura popular, compreendida como oposição à Cultura erudita e tida como “[...] reduto de massas incultas, espontâneas, que criam saberes descartáveis e imediatos” (CARVALHO, 2008, p.21). A Cultura da Tradição é fruto de saberes e fazeres pautados em permanências e mudanças passadas entre gerações. [2] O Mestrado foi desenvolvido de 2005 a 2007, no PPGA-UFPE.
afirmação do convívio e hospitalidade. Nesse contexto, as festas populares transformam as ruas em palcos e os inúmeros folguedos existentes em cada município formatam um universo da cultura tradicional, marcada pela diversidade de cores, formas, ritmos, motivos, movimentos e estruturas específicas. Os brincantes tornam-se representantes da Cultura da Tradição1, cultura esta que se mantém e se renova em um constante dinamismo. Atraída por esse fascinante universo tive oportunidade de ampliar meu interesse pelo estudo das brincadeiras nordestinas, percorrendo o itinerário acadêmico em Antropologia. Desenvolvendo durante o Mestrado na UFPE2 uma pesquisa sobre o folguedo dos Começando a Tecer...
18
Caretas de Triunfo, pude compreender que esta cidade sertaneja é um exemplo do movimento festivo compartilhado coletivamente. O Carnaval tem uma importância diferenciada dentre as festividades do ano e durante a festa de Momo, há quase um século, os Caretas, mascarados com seus chicotes em punho, percorrem as ladeiras da referida cidade, despertando a curiosidade dos visitantes. Num fecundo processo de troca, a brincadeira representa uma tradição transmitida de pai para filho, saberes compartilhados entre os amigos e parentes, aprendizes e mestres (COSTA, 2009a). [3] Título da dissertação de Mestrado por mim defendida em 2007 e publicada em 2009. [4] O universo simbólico é denominado nos estudos de Gilbert Durand (2002) de “universo imaginário” e refere-se ao conjunto de símbolos, imagens e mitos fundadores de uma comunidade. [5] Michel Maffesoli propõe uma “[...] „ lógica da identificação‟, que substituiria a lógica da identidade que prevaleceu durante toda a modernidade. Enquanto esta última repousava sobre a existência de indivíduos autônomos e senhores de suas ações, a lógica da identificação põe em cena „pessoas‟ de máscaras mais variáveis [...]” (1996, p. 19).
Percebi que os elementos presentes nos rituais dos folguedos ressaltam a importância de viver conjuntamente a brincadeira imersa em suas imagens e numa estética própria de cada manifestação. Observo aqui, que esta estética, inserida no campo da Filosofia do Belo e da Arte e pertinente à Ciência do Estético (SUASSUNA, 2005), apresenta-se significativamente enquanto expressão da emoção, da sensação, do sentimento e da atração. Deve-se entender, neste caso, estética no seu sentido mais simples: vibrar em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente, tudo o que permite a cada um, movido pelo ideal comunitário, de sentir-se daqui e em casa neste mundo (MAFFESOLI, 2005, p. 08).
Em Os Caretas de Triunfo: a força da brincadeira3 lancei um olhar sobre a riqueza imagética deste folguedo, a sua estética, o seu universo simbólico4, percebendo a importância desses elementos no processo de identificação5 entre os indivíduos e na dinâmica de inclusão da brincadeira na construção da identidade triunfense (COSTA, 2009). A pesquisa indicou que o mundo imaginal 6 amplia a força da brincadeira, dá-lhe sustentação e embasa sua existência. Essa força leva à importância, ao destaque, à visibilidade e à possibilidade do ritual
[6] A expressão “mundo imaginal” é usada por Maffesoli (1996) para indicar um conjunto de imagens ou “objetos imagéticos” com os quais o homem convive, e em torno dos quais ele se reúne e constrói o seu cotidiano.
tornar-se símbolo identitário do lugar. O trabalho referente aos mascarados triunfenses suscitou relevantes questões sobre o dinamismo da Cultura da Tradição, que pode ser compreendida a partir da memória individual e coletiva do lugar. Como os seus habitantes, os lugares passam por múltiplas mudanças, variações, conversões e até revoluções que vão criando a
Começando a Tecer...
19
história de construções identitárias. Neste universo, marcado pela plasticidade (BAUMAN, 2005), observei a importância dos folguedos como elementos que contribuem para a dinâmica do encontro entre pessoas que se relacionam, que compartilham o prazer de estarem juntos, de unirem-se através da estética, de participarem dos momentos coletivos nos quais se desenvolve a lógica da identificação. Na busca de elementos que representem os indivíduos e os lugares, numa construção de suas identidades, os folguedos e seus personagens, tornam-se emblemas, pela sua força e resistência. As brincadeiras não passam a ser fortes por tornarem-se símbolo identitário, mas, em um sentido mais amplo, passam a ser emblemáticas por trazerem consigo toda essa força grupal, criando comunidade. Os legados das manifestações dos mascarados, com sua memória e características, tornam-se elementos específicos e próprios das cidades, singularizando-as. Assim, por sua força imagética, os mascarados firmam-se como símbolo e marca local e regional. As brincadeiras, e com elas a identificação que suscitam, fortalecem os grupos, o lugar e, conseqüentemente, os próprios folguedos, num imenso movimento de trocas (COSTA, 2009a). As máscaras, por sua vez, tornam-se um precioso instrumento de significação do imaginário do homem, suscitando sentimentos e pulsões individuais e coletivas. Transformando-se em entidades da natureza, personagens mitológicos, animais multiformes, seres antropomórficos, figuras caricaturais, as máscaras são capazes de traduzir a própria condição humana, expressando sentimentos como medo, poder, satisfação, sensibilidade, alegria, vaidade, curiosidade, prazer: ajudando-nos no enfrentamento dos elementos concretos de nossa existência. Neste sentido, conhecer e caracterizar de uma forma geral as máscaras usadas nas manifestações populares torna-se uma possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre os habitantes dos lugares e as relações que permeiam as brincadeiras. A partir desses elementos destacados, tão caros à Cultura da Tradição, objetivei prosseguir meus estudos. Ao estabelecer uma continuidade temática com o trabalho desenvolvido no Mestrado Começando a Tecer...
20
pretendi estender minha pesquisa sobre os brincantes pernambucanos [7] Na Cartografia, o mapeamento dos municípios de Pernambuco, destacando o conjunto de brincadeiras /brincantes cuja importância estaria atrelada à utilização da máscara. Vide Capítulo 03.
a partir de uma Cartografia7 que possibilitasse a categorização dos mascarados carnavalescos, observando a sua possível existência dentre os 185 municípios do Estado. Esse estudo me indicou um interessante ponto de partida para o reconhecimento deste rico patrimônio imaterial, ampliando as possibilidades de futuras investigações científicas, apoios institucionais e formulação de políticas públicas voltados para a cultura. As máscaras, por sua vez, seriam um elemento de destaque, ajudando-me a construir a teia de entendimentos sobre a história e dinâmica das brincadeiras. Dentro deste universo, como referencial empírico para um estudo mais aprofundado sobre os folguedos, decidi investigar as brincadeiras dos Papangus (Bezerros) e dos Tabaqueiros (Afogados da Ingazeira), dialogando efetivamente com o campo e com diversos autores que embasaram minha aprendizagem. Sendo uma brincadeira centenária, os Papangus percorrem as ruas com suas fantasias multicores e máscaras multiformes, ajudandolhes a manter o anonimato. O angu, prato típico da região, faz parte do ritual dos brincantes que se deliciam com a iguaria durante os dias de festa, conferindo-lhes, assim, o nome. Bezerros, localizada no agreste pernambucano, a 105 quilômetros do Recife, é hoje conhecida nacionalmente como a Terra do Papangu, revelando a importância dos mascarados para a construção da identidade local. A cidade sertaneja de Afogados da Ingazeira, localizada no sertão do Pajeú, a 378 quilômetros da Capital, também é tomada pelos mascarados nos dias de Carnaval. Conhecidos como Tabaqueiros, estes brincantes circulam na cidade, com chicotes em punho e dezenas de chocalhos amarrados na cintura, representando a continuidade de uma tradição centenária. Os Papangus e os Tabaqueiros foram como preciosos fios escolhidos dentre muitos filamentos, ajudando-me a construir a manta do conhecimento.
Começando a Tecer...
21
A Escolha dos Fios [8] As 12 regiões de desenvolvimento foram distribuídas pelo Governo do Estado da seguinte forma: RMR – Núcleo Oeste Sul (05 municípios), RMR – Núcleo Centro (04), RMR – Núcleo Norte (06), Zona da Mata Norte (19), Zona da Mata Sul (24), Agreste Setentrional (19), Agreste Central (26), Agreste Meridional (26), Sertão do Pajeú (17), Sertão do Moxotó (07), Sertão de Itaparica (07), Sertão Central (08), Sertão do Araripe (10), Sertão do São Francisco (07). As políticas culturais do governo de Pernambuco estão embasadas no Projeto de Lei de Cultura para o Estado e no plano de gestão Pernambuco Nação Cultural, adotado pela FUNDARPE (2006). O plano tem como objetivo desenvolver ações de preservação, fomento, formação, difusão e gestão na área de política cultural para as 12 regiões que compõem o Estado de Pernambuco.
Os municípios do Estado de Pernambuco formam um conjunto de cidades que guardam um tesouro de manifestações culturais, cada uma com características próprias. Apresentam-se hoje compondo um quadro de 12 regiões de desenvolvimento, organizado pelo Governo do Estado para direcionar os projetos governamentais8 (APÊNDICE A). Nesses municípios os laços entre os indivíduos são estabelecidos de forma emblemática na preparação e execução de suas festas, rituais e folguedos. Nos diversos ciclos que permeiam o ano, as brincadeiras da tradição pernambucana, algumas centenárias, estão comumente imersas em um mundo imagético marcado pelo vigor estético. Qual cimento exercendo o seu papel aglutinador o universo simbólico envolve as brincadeiras, embasa sua preparação, interfere na execução das indumentárias, permitindo a formação e manutenção de grupos e ampliando relações que suscitam novos sentidos para a existência. Dentre as manifestações populares, o Carnaval destaca-se como um importante momento para o estabelecimento de relações entre brincantes, moradores e visitantes: tempo de transição, de liminaridade9, que antecede o período da Quaresma. Estes são dias regidos por leis mais próximas à liberdade, num estado de fuga provisória dos moldes da vida ordinária, das restrições oficiais. Situado na fronteira entre a arte e a vida, a festa carnavalesca possibilita vivenciar uma outra vida, por meio da representação, da rebeldia, da
[9] O conceito de liminaridade é trabalhado por Victor Turner (1974). Segundo ele as pessoas ou entidades liminares não estão situadas nesta ou naquela posição na estrutura social, estando “entre posições” atribuídas e ordenadas por leis, costumes, convenções e cerimonial. É um momento dentro e fora do tempo e da estrutura social.
teatralização (BAKHTIN, 2002). A máscara torna-se elemento de suma importância para a vivência da pândega carnavalesca, trazendo a possibilidade do anonimato e de uma vida temporária regada de simbolismo. Este adorno, primeira face, diz muito do homem por ela encoberto, segunda face, e das relações que o cercam, daí seu valor em estudos antropológicos (LÉVI-STRAUSS, 1979). Muito mais que um adorno a máscara pode ser percebida como um quase-sujeito10 (LATOUR, 2009, BRANQUINHO, 2007). Destaco que muitas dessas riquezas culturais são pouco
[10] Esse conceito será explicitado no Capítulo. 02.
conhecidas fora dos municípios onde se desenvolvem. Algumas localidades, ao vivenciarem seus contínuos processos de construção Começando a Tecer...
22
identitária, têm no universo imagético existente em suas brincadeiras um elemento de visibilidade, alvo do assédio da cultura de massa e da propaganda midiática. Como exemplos dessa dinâmica encontram-se os Papangus de Bezerros e os Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira, ambos reconhecidos como representantes da cultura da cidade pelos moradores e gestores locais, porém envolvidos de forma diferenciada pela propaganda midiática. A partir de um levantamento preliminar nas cidades, pretendendo ter um conhecimento básico sobre os folguedos, observei que os Tabaqueiros guardavam alguns elementos encontrados na brincadeira dos Caretas de Triunfo: os chicotes, os chocalhos, o duelo entre brincantes. A diversidade de máscaras e fantasias marcava a folia dos Papangus, na atualidade. Constatei que no caso dos Papangus já existia um interesse pela divulgação da brincadeira, pois ela integrava as agendas culturais do governo do estado, referentes às comemorações carnavalescas. Nesse contexto, a indústria cultural, respaldada pelo poder institucional e pela dinâmica do turismo, transformava os mascarados em marca, marketing, propaganda para a festa no âmbito estadual. Existia, então, todo um assédio da mídia televisiva e impressa que introduzia o espetáculo na cultura de massa. Em relação à brincadeira dos Tabaqueiros havia um alcance mais restrito, sendo conhecida apenas no âmbito do município. Em ambas as cidades, porém, os brincantes apresentavam-se em Concursos Municipais que faziam parte da programação carnavalesca. Tanto na cidade do agreste quanto na sertaneja, o Carnaval amplia-se, a cada ano, como um espetáculo de proliferação de imagens. Esse universo imagético torna-se elemento de visibilidade e a estética é uma [11] Faço referência ao artista ou artesão partindo da perspectiva de que todo artesão é artista e que todo artista é um artesão. Sei, porém que isso não esconde as controvérsias que aparecem no campo em relação à problemática que envolve esses termos. Retomarei essa questão no Capítulo 02.
marca contundente das referidas manifestações. As duas brincadeiras mostravam-me questões similares e diferenciadas, a partir do contexto de cada lugar, da dimensão de cada folguedo e da história de cada manifestação: a distância da Capital, a dinâmica do turismo, a propaganda institucional, o envolvimento dos moradores e visitantes, o trabalho dos artesãos-artistas11, o desenvolvimento do comércio e as políticas públicas. Todas essas Começando a Tecer...
23
.
questões foram pertinentes para que pudesse escolher, dentre tantas manifestações, os Papangus de Bezerros e os Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira como referenciais empíricos para a pesquisa. Gostaria de registrar que ao iniciar os estudos de doutoramento existiam em relação ao folguedo dos Papangus alguns trabalhos acadêmicos direcionados, principalmente, para a dinâmica do turismo (RAMOS; MACIEL, 2009; ANDRADE, 2004), história e geografia (BRAYNER, 2003; 1999). Em relação aos Tabaqueiros não encontrei registros de pesquisas defendidas ou publicadas. O fato de ser esse um trabalho inédito sobre a referida brincadeira despertou ainda mais o meu desejo de desenvolver a pesquisa, aumentando, também, minha responsabilidade frente a esse desafio. Destaco que existia, em ambos os casos, uma carência de estudos acadêmicos que revelassem a importância dos itinerários antropológicos, os quais ajudariam a apreender as questões e tensões que envolvem as relações existentes
nas
referidas
cidades.
Assim
iniciei
o
trabalho
compartilhando com a ideia de que: as escolhas que movem a pesquisa, os métodos que a tornam possível e as modalidades de expressão dos resultados se tornam inseparáveis do processo de produção de uma definição particular da realidade. (COLOMBO, 2005, p. 268).
Delimitei como objetivo geral da pesquisa aprofundar os Construindo a Teia
conhecimentos sobre as representações da Cultura da Tradição pernambucana, investigando de que forma a riqueza imagética das manifestações dos mascarados carnavalescos, a sua estética, o seu universo simbólico, interferiam no processo de identificação dos indivíduos e na dinâmica de inclusão das brincadeiras na construção da identidade local e regional, tomando como referencial empírico os folguedos carnavalescos dos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira. A máscara, por sua vez, significou um elemento crucial para o entendimento dessas questões: um objeto que fala, sem calar sujeitos. Daí a importância revelada já no subtítulo da Tese e aprofundada pelo diálogo constante com os labirintos da teoria atorrede (LATOUR, 2012) em todo o restante do texto12. Começando a Tecer...
24
[12] Ainda nessa introdução destaco a importância desta teoria para o trabalho.
Como objetivos específicos, compor uma Cartografia13 dos folguedos pernambucanos que possuíssem mascarados em suas brincadeiras carnavalescas, desenvolvendo a categorização das máscaras pela análise dos elementos estéticos e significados
[13] Cartografia é um vocábulo presente na teoria ator-rede. Os mapas possibilitam visualizar a dinâmica do objeto fotografado em determinado tempoespaço. Vide Capítulo 03.
simbólicos; analisar os movimentos de preservação e mudança nos folguedos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira, a partir das questões pertinentes a relação memória, identidade e identificação; perceber de que forma essas brincadeiras carnavalescas intervinham na afirmação de antigos laços de parentesco e vizinhança e na construção de novas relações de sociabilidade; compreender como
os
moradores
e
brincantes
articulavam
memória
e
esquecimento, num processo de seleção de fatos vividos e ensinamentos, construindo assim a memória individual e coletiva dos lugares; analisar de que maneira e em que dimensão as brincadeiras dos Papangus e Tabaqueiros estavam imbuídas num processo de construções identitárias das cidades e inseridas nas políticas culturais e de turismo local e regional; discutir sobre a possível existência de uma [14] Vide Capítulo 08.
rede sociotécnica14 envolvendo as máscaras presentes nas brincadeiras dos municípios pernambucanos; dialogar com o campo da arte,
[15] O método científico não deve reduzir-se ao que é quantificável, ignorando a riqueza das qualidades percebidas a partir de um olhar que atenta à complexidade do mundo, dos indivíduos, nas relações estabelecidas coletivamente. Neste sentido, visei desenvolver uma abordagem qualitativa, com o objetivo de elaborar um conhecimento intersubjetivo, compreensível e descritivo. Acredito que o pesquisador deve observar um campo, no qual se encontra incluído e perceber também que esse campo interage com ele (MELLUCI, 2005).
visualizando a produção das máscaras dos artistas considerados eruditos e populares. Visando assegurar o cumprimento dos objetivos propostos e ampliar o leque das questões problematizadas durante a pesquisa, tracei um itinerário metodológico que assegurasse um olhar atento aos atores, cenários, práticas e relações, os quais delineavam o universo a ser pesquisado15. Nesse caminhar as incertezas, as controvérsias, as tensões existiram e foram fundamentais para que questões e reflexões fossem suscitadas. Acreditei que para que pudesse me aproximar mais do objeto estudado deveria seguir as linhas que contavam uma história, inseridas em um tempo e espaço, trabalhando na perspectiva do encontro: o campo pulsante, as revelações da memória, os objetos que falavam, os registros materiais e virtuais que comunicavam, as categorias determinadas pelo campo. Tudo isso me ajudou a percorrer os labirintos das relações existentes na Cultura da Tradição. Todos esses Começando a Tecer...
25
[16] ANT- Actor- NetworkTheory. Em destaque os trabalhos de Bruno Latour e Fátima Branquinho. O termo ator é tomado de empréstimo do campo do teatro. Na ANT a ação é que é valorizada. O ator tem um papel, que nem é fixo, nem determinado, mas que tem uma ação, sendo sujeito ou objeto. Há a preocupação de capturar a ação, construída por humanos ou não humanos. E isso se processa através de redes: associações que envolvem os atores.
elementos foram percebidos e destacados a partir da reflexão sobre os direcionamentos trazidos pela teoria ator-rede (ANT), difundida no âmbito da Antropologia das Ciências e as Técnicas16. Mais do que um encaminhamento que norteou a pesquisa o diálogo com a Antropologia das Ciências e das Técnicas representou uma opção teórico-metodológica, que exigiu o trilhar de caminhos antes desconhecidos. Sendo uma teoria muito nova, Bruno Latour (2012) reconhece que as pessoas podem optar por usá-la, distorcê-la ou abandoná-la. Em nenhum momento objetivei dominar os itinerários epistemológicos traçados por esse campo de estudos. Seria muito pretensiosa de minha parte, visto que os próprios estudiosos, proponentes e seguidores da teoria, se colocam ainda como aprendizes e desbravadores de novos territórios. Objetivei, no entanto, chegar mais próximo das nuances da teoria e, paralelamente, dialogar com outros autores, cuja conformidade de idéias ou discordância de pontos de vista ampliaria o leque de conjecturas e questionamentos. Importou-se, nesse sentido, visualizar o movimento existente na realidade investigada, construindo o conhecimento científico a partir dos atores de um coletivo múltiplo, formado por humanos e
[17] No decorrer do texto esses conceitos serão retomados.
não-humanos17. Assim, adentrar nos labirintos da teoria ator-rede formada por uma teia de elementos com valores que se equiparam jóias com semelhantes quilates, estrelas de similar magnitude. “O „ator‟, na expressão hifenizada „ator-rede‟, não é a fonte de um ato e sim o alvo móvel de um amplo conjunto de entidades que enxameiam em sua direção” (LATOUR, 2012, p. 75). Nesta perspectiva artesãosartistas, mestres, brincantes, turistas, moradores, comerciantes, gestores, indústria cultural, propaganda midiática, todos e cada um formataram um conjunto multifacetado: faces e máscaras refletidas num imenso espelho da festa carnavalesca. Buscando os ensinamentos dos estudiosos desse campo procurei compreender as máscaras como híbridos de natureza e cultura. Mesmo podendo ser pensados como excludentes, dicotômicos, antagônicos, muitos elementos passaram a dialogar formando uma espessa argamassa que foi moldando os conceitos nos diversos Começando a Tecer...
26
[18] As controvérsias proporcionam ao pesquisador os recursos necessários para rastrear as conexões sociais. As controvérsias não são aborrecimentos que devem ser evitados, mas um adubo para a compreensão do mundo e das coisas. (LATOUR, 2012).
momentos em que as máscaras e mascarados construíram o tempo da festa, os folguedos e os lugares. Arte ou artesanato? Criação popular ou elaboração erudita? Abrangência local ou global? Estética do Belo ou do Feio? Conhecimento sistematizado ou saber empírico? Visualização de fatos ou valores? Exemplares de natureza ou cultura? Controvérsias18? Essas e tantas outras indagações permearam o texto, instigando a reflexão. Muitas dessas questões são problemas científicos e éticos que justificam o uso da teoria ator-rede. Tais questões podem
[19] No trabalho de campo etnográfico, a observação participante, tão cara desde os primórdios da disciplina, continua sendo uma valiosa estratégica metodológica para que se alcance uma maior intimidade com o objeto de estudo e, a partir daí, um conhecimento embasado e respaldado empiricamente. Busca-se através dessa estratégia básica, diminuir a distância entre o pesquisador e os sujeitos, objetivando uma participação mais intensa em seu mundo, “[...] de modo a assumir a linguagem, compreender a simbologia, reconhecer as suas formas prevalecentes de expressão e comunicação” (RANCI, 2005, p.54). [20] Maffesoli em Conhecimento do Quotidiano [S.I.] alerta para a importância da riqueza de elementos presentes na trama cotidiana. Ela é construída a partir do entrecruzamento dos objetos e das ações que constituem o essencial das atitudes minúsculas, fundamentais para a vida de todos os dias. A partir do cotidiano pode se compreender melhor a socialidade, o “ser-emconjunto”, a relação com o outro.
servir de modelo para novas investigações à luz dessa teoria. Assim, em um diálogo com o campo pulsante19 busquei, de forma mais abrangente possível, dentro das limitações temporais e espaciais da pesquisa, visualizar as trajetórias e as experiências vivenciadas pelos atores, no contexto estudado: seguir os atores, prestando atenção ao modo como eles próprios respondiam as questões (LATOUR, 2012). O pensamento de autores de diversas áreas do conhecimento trouxe um entrecruzamento necessário para
a
formulação de
um
encaminhamento reflexivo e uma melhor compreensão do universo estudado, pois é imprescindível a ligação entre a teoria e o aprendizado empírico (PEIRANO, 1995). Embasado pelo pleno exercício da contextualização e do diálogo, o trabalho seguiu a partir de uma intensa observação direta das áreas escolhidas como referencial empírico. O campo esteve presente de forma emblemática no meu percurso e a partir de uma participação efetiva no cotidiano20 das cidades de Bezerros e Afogados da Ingazeira e nos momentos de festa pude avaliar as diretrizes traçadas, perceber as peculiaridades dos lugares e compreender os laços sociais construídos. No desenvolvimento da pesquisa senti necessidade de me aproximar mais dos lugares que marcaram de forma contundente a história da Arte das máscaras. Decidi experienciar o campo no alémmar, visitando algumas cidades da Itália, de suma importância para a criação e vida dos quase-sujeitos. Veneza, Burano, Siena, Florença, Montereggioni, San Gimignano, Roma, foram alguns lugares que desenharam um percurso traçado pelas linhas da descoberta e do Começando a Tecer...
27
desvelamento sobre as máscaras. Aproveitando a oportunidade, visitei o Musée Barbier Mueller, em Genebra, que comemorava seu trigésimo quinto aniversário com a exposição Masques à dèmasquer - uma mostra de 100 máscaras, dos cinco continentes. Essa caminhada significou um diferencial na pesquisa: forma de ampliar minha reflexão sobre o contexto local e universal da vida das máscaras. No processo de desenvolvimento da pesquisa as etapas se mesclaram, ou seja, embora eu tenha indicado um caminho cronológico para atingir os objetivos do projeto tive a preocupação de não ser este um itinerário linear, construído por etapas independentes, mas que houvesse uma interação entre elas, num processo de avaliação constante. Assim, tracei uma metodologia de caráter global, que, segundo Edgar Morin (2002b), representa o conjunto das diversas partes ligadas ao contexto de modo inter-retroativo ou organizacional. Acredito que devemos ficar atentos para a importância do conhecimento dito ordinário ou vulgar, das aprendizagens individuais coletivas que são tão caras para nossas vidas pelo sentido e razão que dão à nossa existência e que a ciência muitas vezes teima em considerar irrelevante (SOUZA SANTOS, 1988). Reitero que isso foi conseguido pelo contato direto e intenso com os moradores, brincantes e visitantes, no período de festa e fora dele. Nas cidades escolhidas detectei as pulsações do campo, marcadas pelas relações existentes entre atores, tentando sempre problematizar esse rico conjunto, constituído pelos discursos e interações pessoais e coletivas. Assim compactuei com a ideia de que o campo pulsante não se apresenta como uma entidade natural, dada. Ele não é algo objetivo e neutro, mas uma realidade dinâmica, polissêmica, viva (MALIGHETTI, 2004). O ator social, por sua vez, não tem uma função neutra de repassar informações colocadas à disposição do pesquisador, mas desenvolve um papel ativo que condiciona o processo cognoscitivo (RANCI, 2005). Longe de serem meros informantes, os atores são reflexivos e estão sempre a frente do pesquisador que os estuda. Eles permeiam um vasto campo de ação, diversidade de mundos no qual podem mover-se (LATOUR, 2012). Começando a Tecer...
28
Importou-me, nesse sentido, não apenas as explicações racionais, objetivas, fornecidas por esses sujeitos no contexto da pesquisa, mas os aspectos particulares, fruto de diferenciadas visões de mundo, subjetivos, que afloram da relação de confiança que pretendi estabelecer com eles. Foram diversos os sujeitos implicados nesse jogo relacional desenvolvido durante o trabalhode campo: moradores, brincantes, representantes estabelecimentos
de
instituições
comerciais
e
públicas,
proprietários
visitantes.
Estes
de
indivíduos
posicionaram-se enquanto participantes, testemunhas, observadores e intérpretes da realidade observada e foram figuras fundamentais para a construção do conhecimento empírico e científico sobre as questões investigadas. As revelações da memória constituíram elementos [21] Utilizo os termos vestígios imateriais para designar um conjunto de sentimentos, sensações, recordações, emoções, que marcam as lembranças dos entrevistados (COSTA, 2009a); (APÊNDICE B). [22] Pode-se dizer que toda entrevista contém, de certa forma, uma dimensão biográfica, pois leva em conta as descrições subjetivas do indivíduo sobre a ação e atiça a memória, foco principal da auto-reflexão do sujeito. Nas histórias de vida, porém, a organização do campo cognitivo e a relação com a memória do indivíduo transformam-se em ponto crucial para a obtenção de dados (MELUCCI, 2005). [23] Desenvolvi histórias de vida com dois (02) mestres, Lula Vassoureiro, em Bezerros e Beijamim Almeida, em Afogados a Ingazeira. Em relação às entrevistas semi-estruturadas, em princípio me propus à
primordiais acionados constantemente, numa relação estabelecida com esses indivíduos. O efeito das narrativas deve fazer-se sentir, primeiro de tudo, no próprio etnógrafo: ele deve deixar-se impactar por um discurso que se apresenta como estranho, distante, inacabado, inadequado... porém, desenraizado, pária, desimpedido, aberto à alteridade, com uma vocação irredutivelmente universalizante. (CARVALHO, 2001).
Neste contexto, apreendi os vestígios imateriais21 presentes na memória dos moradores e brincantes, os quais guardavam medos, ansiedades, alegrias e prazeres a partir de lembranças e esquecimentos, expressos através de suas narrativas. Para acionar a memória e trazer à tona esses vestígios realizei entrevistas semi-estruturadas e utilizei também o método de histórias de vida (BAUER; GASKELL, 2002)22. A pesquisa com os Caretas de Triunfo me revelou a importância das histórias de vida como recurso metodológico, uma vez que a vida de alguns moradores se confundia com a história do próprio folguedo. Sendo um método que demanda muito tempo, pela riqueza de detalhes que exigem idas e vindas no processo de narrativa e escuta, trabalharei apenas com as histórias de vida dos mestres das brincadeiras em Bezerros e Afogados da Ingazeira23, pois estes atores ocupavam uma posição central em relação aos folguedos. Começando a Tecer...
29
realização de quinze (15) entrevistas em cada cidade, envolvendo moradores e brincantes. Deixando que o campo me mostrasse a necessidade, ou não, de ampliar o número de interlocuções, cheguei a realização de quarenta e duas (42) entrevistas. Realizei também entrevistas semiestruturadas com os representantes do poder público local e estadual, perfazendo um total de quinze (15) entrevistas presenciais e mais de uma centena de contatos via telefone e e-mail. Os hotéis, pousadas e bares fizeram parte de meu universo de pesquisa, sendo selecionados três (03) estabelecimentos para cada cidade. Apliquei questionários sócioeconômico-culturais nos hotéis e pousadas, para perceber a dinâmica do turismo local, número de visitantes, origem dos turistas, motivo das visitações. Paralelamente fiz dez (10) entrevistas semi-estruturadas com os visitantes de cada cidade, apreendendo suas impressões em relação aos folguedos. [24] Utilizo o termo vestígios materiais para designar um conjunto de objetos que têm relação com os folguedos e que são guardados pelos moradores e brincantes, servindo-lhes de recordação (COSTA, 2009a).
Tanto no Carnaval, quanto em outras apresentações durante o ano estive presente para uma observação mais intensa dos brincantes, espectadores, moradores e visitantes. Nos Carnavais de 2010 a 2013 acompanhei os folguedos nas ruas de Bezerros e Afogados da Ingazeira, viajando de uma cidade à outra para que presenciasse, de perto, o desenrolar das brincadeiras. Durante o ano, as visitas a esses municípios possibilitaram o aprofundamento sobre questões valiosas para ao trabalho de pesquisa. Estes foram, certamente, momentos de extrema importância para que eu pudesse conhecer melhor as especificidades das manifestações dos Papangus e Tabaqueiros. Gostaria de destacar que o registro desses depoimentos foi feito a partir da própria dinâmica da festa, marcada pela música, irreverência e tumulto. Procurei respeitar, contudo, o silêncio e o anonimato dos mascarados durante o ritual carnavalesco e ocasiões de apresentação. Utilizei os momentos fora do tempo de festa para realizar as entrevistas com os brincantes e assim complementei e ampliei a pesquisa, registrando falas e detalhes no diário de campo. Em cada um desses encontros tive uma maior percepção de que “apagando os limites que separam o eu, o outro e a história, procuramos aprender como contar novas histórias, histórias estas que não mais estão contidas ou confinadas dentro dos contos do passado. (DENZIN; LINCOLN, 2006).” Ressalto também a importância dos vestígios materiais24 pertencentes a moradores, brincantes e estudiosos das cidades. Estes foram fontes de informação valorosas para que eu compreendesse as questões percebidas na história, bem como as tensões envolvidas no processo de mudanças e permanências das brincadeiras. Assim, direcionando a pesquisa através de um diálogo com o campo da Antropologia das Ciências e das Técnicas, passei a reconhecer a máscara não como um objeto inerte, afastado do contexto sóciocultural no qual estava inserido, mas como quase-sujeito, atuante, vivo e possível de ser investigado através do processo etnográfico. Para Bruno Latour e Steve Woolgar (1997) sujeito e objeto são indissociáveis e uma parte de nossa humanidade é feita da Começando a Tecer...
30
inumanidade desses objetos que nos cercam. Seguindo essa concepção busquei diminuir o abismo existente entre os homens e as coisas. Tentando combater as hierarquias, assimetrias e desigualdades entre humanos e não humanos visualizei a rede de interações entre eles: as associações. Foi nesse sentido que entendi o valor dos vestígios materiais, em destaque as máscaras usadas nas brincadeiras. Os objetos falam e como o próprio subtítulo destaca, as máscaras falaram, sem calar os sujeitos que estavam envolvidos em uma teia com elas estabelecida. Observei a existência de uma rede sociotécnica na qual humanos e não-humanos estabeleciam uma relação simétrica, [25] Enquanto objeto híbrido as máscaras revelaram-se inseridas nessa rede, agenciando atores e produzindo conhecimento sobre a realidade a partir delas e das relações que suscitavam. Passei a ver esses objetos e as associações enquanto locais e globais, particulares e universais. Vide Capítulo 08.
não hierárquica, não excludente, distinta do etnocentrismo25. Os objetos são narradores “Eis por que alguns truques precisam ser inventados para forçá-los a falar, ou seja, apresentar descrições de si mesmos, produzir roteiros daquilo que induzem outros-humanos e não humanos- a fazer.” (p. 119) Observando o universo de produção das máscaras, procurei trazer a tona uma cara discussão entre a Arte erudita e popular; o conhecimento adquirido pelos caminhos ortodoxos da academia e os saberes e fazeres desenvolvido pela passagem que se faz no convívio familiar, nas rodas de amigos: mantas tecidas nos ateliês e oficinas que viabilizam o movimento da tradição. O que é Arte? Esse questionamento revelou-se como um problema tanto ético quanto científico: uma controvérsia cara para uma investigação através das lentes da teoria ator-rede. A partir dos ensinamentos do campo, do contato com grupo de artesãos-artistas presentes nas cidades pesquisadas, compreendi que podemos pensar o mundo como uma trama cuja essência é a relação entre o cognitivo e o sensível. A Arte das máscaras, corporificada na prática presente em Bezerros e Afogados da Ingazeira, formava uma rede trançada por saberes milenares que atrelam conhecimento e sensibilidade. Havia outra lógica, respaldada em uma vivência prática, diária, empírica, tradicional, que não estava edificada sobre os pilares da Arte erudita e sim sobre os alicerces do saber popular. Nesse tecido, natureza e cultura, tradição e modernidade, erudito e popular, Começando a Tecer...
31
científico e não-científico, sujeito e objeto, ética e estética, eram como filamentos que se entrelaçavam traçando desenhos multiformes nas mantas de entendimentos e questionamentos. A reflexão foi sendo exercitada ao longo da pesquisa e tomou forma na produção textual, enaltecendo a ideia de que devemos ficar atentos a importância das diversas visões de mundo, de trabalho, de elaboração artística, reconhecendo o valor da Arte popular no campo disciplinar da Arte (BRANQUINHO et al., 2011). Atenta a essas questões e seguindo o caminho metodológico, realizei pesquisa bibliográfica e documental, em jornais, revistas, internet, material de propaganda institucional e de turismo, relatórios oficiais e produção da imprensa. Os registros escritos, materiais ou virtuais, ajudaram numa efetiva construção do conhecimento da problemática estudada. Os acervos fotográficos foram usados como [26] Compartilho com a ideia de que “[...] a imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece um registro mais poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reaisconcretos, materiais” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 137).
possibilidade de ampliar a percepção da dinâmica das brincadeiras26. A Cartografia dos mascarados pernambucanos, por sua vez, foi elaborada durante todo o desenvolvimento da pesquisa, em visitas aos municípios e a partir de pesquisa bibliográfica e documental sobre os folguedos, contatos telefônicos com diversas instituições municipais e telefones particulares dos gestores, troca de e-mails com moradores e funcionários das Prefeituras, bem como pesquisa em sites institucionais e blogs sobre as cidades. Como resultado deste trabalho, construí um acervo
constituído
possibilitaram
a
pelas
cartas
catalogação
dos
geográficas mascarados
ilustradas
que
carnavalescos
pernambucanos. “Se uma imagem vale mais que mil palavras, um mapa, como veremos, vale mais que uma floresta inteira. (LATOUR, 2001). Acredito que todo esse material poderá fornecer subsídios às instituições voltadas ao turismo e cultura, sendo indicativo também para trabalhos de estudiosos e pesquisadores que desejem ampliar o conhecimento sobre os folguedos dos mascarados e desenvolver novos projetos de investigação. Quanto à determinação das categorias para análise das máscaras tentei buscá-las não a partir de modos lógicos ou imutáveis de classificação, mas captá-las dentro de uma dinâmica de Começando a Tecer...
32
mutabilidade, de elaboração constante, de movimento. Compartilho com o pensamento de que é essencial compreender as categorias empíricas, que podem servir de ferramentas conceituais e que ajudam o pensamento a pensar bem (LÉVI-STRAUSS, 1989). A partir dessas considerações, fixei o meu olhar sobre a realidade atual, trazida pelo campo. A categorização das máscaras teve como destaque os elementos estéticos e significados simbólicos. Durante todo um processo de reflexão o diálogo com [27] O trabalho antropológico deve vincular sempre a pesquisa de campo ao embasamento teórico: diálogo entre o campo e os diversos autores que estarão juntos ao pesquisador, respaldando suas abordagens e questionamentos. Repensar a teoria clássica, dialogar com pensadores contemporâneos, formar uma teia a partir de opções epistemológicas, tudo isso indicará um curso teóricometodológico, abrindo os horizontes e fronteiras através de um diálogo interdisciplinar (PEIRANO, 1995).
pensadores27 possibilitou um percurso repleto de dúvidas e certezas, questionamentos e descobertas: um bordado de cores e formas diversas. Nessa caminhada, ajudaram-me a tecer esse trabalho Edgar Morin, com os caminhos da cultura; Gilbert Durant e Gaston Bachelard, com os labirintos do imaginário; Mircea Eliade e LéviStrauss com as revelações do mito; Aparecida Nogueira, com a vitalidade da tradição; Michel Maffesoli com o valor da identificação; Peter Berger e Thomas Luckmann com a crise de sentido; Zygmunt Bauman, Marc Augé, Stuart Hall com a dinâmica das identidades; Georges Balandier com a riqueza da desordem; Georg Simmel com os labirintos do segredo; Ariano Suassuna, Humberto Eco e Celso Favaretto com a grandeza da estética; Mikhail Bakhtin, Câmara Cascudo e Katarina Real com o movimento do Carnaval; Marcell Mauss com a permanência da dádiva; Maurice Halbwachs e Ecléa Bosi com os percursos da memória. Em destaque Bruno Latour e Fátima Branquinho com a magnitude dos objetos e as reflexões sobre a teoria ator-rede. Ítalo Calvino, Friedrich Nietzsche; Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre, Guilles Deleuse, Félix Guattari trouxeram um diálogo constante com os ensinamentos da Filosofia. Pierre Grimal, Mário Kury e Carolina Aquino revelaram as narrativas mitológicas, importantes acionadores cognitivos. Numa linguagem universal e sem fronteiras a poesia e a prosa Juraildes da Cruz, Fernando Pessoa, Onildo Almeida, Luiz Gonzaga, Maria Cacilda Santos, Zé Marcolino, Menotti del Picchia, Raul Moraes, J. Borges, Daniel Bueno, Diomedes Mariano, João Santiago acionaram a magia, o encanto, a luz, a paixão, Começando a Tecer...
33
tão necessários para a reflexão sobre os sentimentos e coisas do mundo. Outros tantos pesquisadores, estudiosos, pensadores, filósofos, poetas, formaram um conjunto de companheiros de trabalho, bordando, ao meu lado, os tecidos da aprendizagem. O tempo é um amigo e um inimigo do pesquisador e essa Configurando a Manta
relatividade depende da forma como lidamos com ele. De uma coisa tenho certeza: ele não espera por nada: segue seu caminho, focando a meta da irreversibilidade. Tentando tê-lo como aliado, comecei o trabalho de pesquisa desde o momento que iniciei o doutorado, usando todos os instantes para organizar, articular, planejar, implementar, definir, questionar, discutir, ouvir, escrever, avaliar, ver, rever, enfim, me envolver com o estudo de forma contundente. Ao longo do trabalho percebi a magnitude de meu objeto de estudo. Por um lado, a Cartografia exigia uma pesquisa muito ampla, para que chegasse
ao
mapeamento
das
brincadeiras
dos
mascarados.
Paralelamente, deveria mergulhar no campo para absorver os ensinamentos mais específicos sobre os folguedos dos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira. Segui e persegui meus objetivos a partir de um trabalho contínuo e diário. Nesse percurso compreendi que, nos quatro anos do doutoramento os dados obtidos estariam em movimento, tal qual a própria tradição que embasava os folguedos. Essa certeza, entretanto, me serviu para reiterar meu pensamento de que a pesquisa não é uma verdade imutável, engessada em uma capa dura, com títulos escritos em letras douradas. Longe disso, o trabalho revelava uma visão de um momento com a dimensão de um piscar de olhos, que teve a duração desses quatro anos: um tempo muito restrito, frente à dinâmica do universo pesquisado. Passado, presente e futuro se entremearam, formando uma trança de aprendizagens e revelações. Nesse sentido encaminhei o traçado de todos os fios, na perspectiva de tecer uma Antropologia Complexa, que acredita que
o
conhecimento
pertinente
deve
enfrentar
Começando a Tecer...
a
34
complexidade. Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente interativo e inter-retroativo entre o objeto do conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. (MORIN, 2002b, p. 38).
Como uma manta criada cuidadosamente a estrutura deste trabalho revela uma configuração delineada em dois volumes. As fotografias ilustram o texto (Fig.) e outras foram apresentadas na forma digital (Dig.) em um CD que acompanha o conjunto impresso. O corpo textual está divido em quatro partes, seguindo o ciclo lunar. Lua Nova; Lua Crescente; Lua Cheia; Lua Minguante. Por que a Lua tem esse peso e importância? Em muitas antigas civilizações as festas aconteciam levando-se em conta o tempo cíclico, regido pelo movimento lunar. Os períodos das colheitas direcionavam os rituais em homenagem à natureza e à fertilidade. Incorporado ao calendário da Igreja católica, a partir do século VI d.C. o deslocamento do Carnaval dependeu da marcação do domingo de Páscoa, comemorado na primeira Lua Cheia da primavera, no hemisfério norte, ou do outono, no hemisfério sul. O provérbio português “Não há cinzas sem Lua Nova” ressalta a existência de um Carnaval atrelado à escuridão lunar, que, segundo a explicação popular, era necessário para que os exageros da orgia da pândega dos homens não fossem vistos pelos deuses do Olimpo. Assim, a Lua, Selene na mitologia grega, sempre regeu e influenciou o tempo da festa carnavalesca, datada a partir de seu ciclo. Em relação à Arte das máscaras, muitos artesãos-artistas respeitam o ciclo lunar para execução de seu trabalho. Os balineses, por exemplo, produzem as máscaras em madeira a serem usadas no teatro e rituais sagrados, apenas nos dias bons: tempo de Lua Nova e Lua Cheia (BALI, 1990). Assim, percebendo sua importância usei as fases da lua como divisor textual, no qual estão inseridos oito capítulos. Essas quatro divisões trouxeram em destaque elementos que embasam a teoria atorrede e que nortearam a pesquisa. Assim, a Lua e alguns direcionamentos da teoria apresentaram as partes do todo: natureza e Começando a Tecer...
35
cultura atrelando-se na costura da Tese. Reconheço que a mitologia é exemplo. Com sua forma e linguagem própria, suas histórias fabulosas acerca dos deuses, semideuses, heróis e suas relações com os homens, ela aciona elementos que nos ajudam a construir e desconstruir significados sobre nós mesmos, a humanidade em geral, a natureza e o cosmo. “A mitologia desempenha então plenamente o seu papel essencial, que consiste em ser um sistema de pensamento, destinado a explicar o que desafia a razão” (GRIMAL, 2009, p.12). E com isso nos faz pensar, sentir, compreender, imaginar, crescer, viver. A mitologia, muitas vezes, explica a gênese de muitos paradigmas sociais; embora sejam arquétipos do inconsciente coletivo em épocas passadas, guardadas as proporções, podem ser transpostas para a atualidade. (SÁ; CONTIJO, 2010, p.29).
Utilizei a mitologia grega como porta de entrada para os subtítulos de cada capítulo: um operador cognitivo que significou um convite para se pensar sobre a temática desenvolvida em cada texto. Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco. Objetos que Falam sem Calar Sujeitos. Este título serviu como fio condutor, me ajudando na tessitura dos capítulos que configuram o trabalho. O segredo, o medo, a vaidade e o prazer foram temas recorrentes que me auxiliaram na formação da manta do conhecimento. Presentes na vida dos folguedos esses elementos não apareceram de forma linear nas falas de brincantes, moradores e visitantes. Como linhas que se entremeiam eles formaram uma trança, desenhando um tempo histórico e cíclico.
Começando a Tecer...
36
PARTE 01: Lua Nova A Lua Nova tem sua face brilhante encoberta e, como um brincante, mascara-se. Nos mais diversos cantos e recantos, rostos e máscaras envolvidos na magia do mascaramento. Identidades formatadas. Memória revigorada. Atores, humanos e não-humanos, narram histórias. Em Lugares e Tradições (Capítulo 01) parti das Cidades: Construídas e Reveladas percorri as Festas: Tradição que Reencanta e cheguei à problemática que envolve o Ser e Estar: Identidades Plurais. Cada lugar guarda encantos, sons, cores, paisagens, gostos, cheiros, pessoas repletas de desejos e sonhos, expectativas e realizações. Objetos e indivíduos povoam as cidades, constroem sua história, preservam e transformam suas tradições. Nesse itinerário as identidades são formatadas tendo nos folguedos mais uma possibilidade de construções identitárias. Bezerros: Terra dos Papangus e Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros são exemplos dessa dinâmica vivida em torno da pândega carnavalesca. A máscara contou histórias centenárias. Em Rostos e Máscaras (Capítulo 02) observei faces de moradores e brincantes, que revelaram a Memória: Lembranças e Esquecimentos e enalteceram a importância das Mascaras: Magia e Realidade. Os mitos de origem foram como verdades revividas em cada história contada. Nos ateliês, saberes e fazeres edificados pela passagem dos ensinamentos, relação entre mestres e aprendizes que criam uma Arte pautada a partir do vivido. A máscara gerou conhecimento. PARTE 02: Lua Crescente Na face lunar, luz e sombra dividem a superfície onde habita São Jorge e o dragão, em constante luta. No satélite e nas terras dos mascarados imaginário e realidade caminham juntos, formando um conjunto de brincadeiras e máscaras. Revelação e ocultação; alegria e curiosidade. O que importa é brincar e se ocultar. Os mapas anunciam a riqueza Começando a Tecer...
37
dos folguedos. O segredo dita as regras. Os rastros são seguidos: multiplicidades, emaranhados, complexidade. No mapeamento das máscaras presentes nos municípios de Pernambuco a Cartografia dos Mascarados (Capítulo 03), revelou características marcantes em diversos folguedos, ajudando a construir as teias das máscaras. Estes objetos falaram sem calar sujeitos, mostrando a dimensão da criatividade individual e coletiva. A máscara ligou, como fios de uma teia infinita.
O Segredo: o Jogo do Mascaramento (Capítulo 04) indicou a força do sigilo e do anonimato presentes nas brincadeiras dos mascarados. O Campo do Segredo mostrou-se pela existência da Máscara: Possibilidade de ser “um outro”. A máscara revelou e escondeu, num jogo de encantamento. PARTE 03: Lua Cheia A Lua apresenta-se plena: luz, força, brilho. Exibe-se vaidosa. Provoca admiração e temor. Na festa os brincantes se mostram e se amostram, como a Lua Cheia. Com tamanha intensidade os folguedos envolvem mascarados, moradores e turistas. O medo assusta e satisfaz. A vaidade marca presença. Ordens estabelecidas. Desordens desenhadas. Conexão entre natureza e cultura. Os atores produzem suas teorias.
O Medo: Feio ou Perturbador? (Capítulo 05). Esta questão marcou os folguedos dos mascarados desde os mitos de origem até os dias atuais. Apresentando-se na dinâmica da festa o jogo entre ordem e desordem foi revelado. Marcando o imaginário dos participantes das brincadeiras a Beleza do Feio destacou-se como tatuagem, que feriu a pele e deixou lembranças. A Beleza do Belo também trouxe perturbações. A máscara assustou, provocando sensações. Nos espelhos encontrados nas cidades de Bezerros e Afogados da Ingazeira e em tantas outras, nas lentes das máquinas fotográficas e de filmagem de turistas e repórteres, a Beleza se refletiu, desvelando A
Vaidade: Fazer-se Ver. (Capítulo 06). Sedução, brilho, encantamento Começando a Tecer...
38
enalteceram os folguedos, inseridos no mundo da espetacularização. A máscara chamou a atenção, despertando a curiosidade. PARTE 04: Lua Minguante Num constante movimento os claros e escuros desenham a extensão da Lua. Mudanças e permanências que envolvem a existência astral. Numa mesma dinâmica os folguedos dos mascarados nascem e morrem; renascem e ampliam-se; renovam-se e se mantêm. E a tradição forma um perene movimento. Um prazer individual e coletivo envolve esse processo de mutações. A dinâmica aparece e tem voz: trans-formações. O Prazer: o Poder da Identificação (Capítulo 07) envolveu todo o universo trabalhado indicando a satisfação dos atores, expressa nos preparativos da festa, na elaboração das máscaras, na escolha dos temas para as fantasias, no ciclo da dádiva que embasou as relações e fez brotar sentimentos. A máscara uniu, provocando emoção. O Movimento da Tradição (Capítulo 08) indicou a importância das buscas, das lutas, das estratégias para a renovação e manutenção dos folguedos. Como filamentos que bordaram uma manta multiforme os indivíduos e os quase-sujeitos construíram redes: desenhos percebidos no âmbito local e universal. A Categorização das máscaras revelada pelo campo destacou a diversidade do imaginário e da estética dos mascarados. A máscara estava presente, mantendo e renovando a tradição. Em Continuando a Tecer alguns questionamentos sobre os fios que indicaram as possibilidades de continuidades da pesquisa. Longe de ser um capítulo conclusivo, segui nos labirintos da Cultura da Tradição, percebendo a riqueza do universo das máscaras, onde Dionísio e Apolo se encontraram. A máscara continuou viva, construindo caminhos de reflexão.
Começando a Tecer...
PARTE 01: LUA NOVA
40
Selene, a deusa Lua, era filha dos Titãs Hipérion e Téia. Percorria o céu em um carro prateado, puxado por dois cavalos brancos. Irmã de Hélios, o deus Sol e Eos, a deusa Aurora, foi criada por Nix, deusa das trevas, personificação da noite. Em função de sua beleza sempre foi assediada pelos deuses, ficando conhecida como divindade da fertilidade, pelo grande número de filhos. Selene não vivia no Olimpo e sim no céu. Antes de fazer sua diária e contínua jornada celeste banhava-se nas águas do mar (KURY, 2008). A Lua Nova caminha durante o dia. Nasce às seis horas da manhã e se põe às seis horas da noite. Como um brincante que se mascara esconde sua face sombria, pois, em seu movimento diurno não reflete a luz de seu irmão Sol à noite. Pela ausência do brilho lunar, o céu parece mais estrelado, assemelhando-se a uma multidão de brincantes em festa. Na pândega carnavalesca rostos e máscaras compartilham a alegria de brincarem juntos e vivenciarem, sob a escuridão da Lua Nova, os excessos da festa. Para entender esta dinâmica festiva e o movimento dos folguedos torna-se necessário dar voz aos atores, sejam eles humanos ou não humanos; permitir que se expressem, que falem, pois cada um e todos são insubstituíveis e fazem a diferença. (LATOUR, 2012).
PARTE 01: Lua Nova
41
1. LUGARES E TRADIÇÕES
Qual é a amarra mais firme? Quais as cordas que são quase impossíveis de romper? Entre os homens de uma qualidade elevada e seleta serão os deveres: esse respeito, como convém à juventude, essa timidez e delicadeza diante de tudo o que é venerado há muito e digno, o reconhecimento pelo solo em que cresceu, pela mão que o guiou, pelo santuário em que aprendeu a orar - serão mesmo seus momentos mais elevados que o ligará mais firmemente, que o obrigará mais duradouramente. (NIETZSCHE, 2006, p.22). É nesse caldeirão de experiências que os viajantes redescobrem sua própria cidade, o que é seu diante do estranho-familiar, do presente-passado, da metrópoleprovíncia. (BRANQUINHO, 2007, p.22). Capítulo 1- Lugares e Tradições
42
O Olimpo era a morada dos deuses do panteão grego. Não existe um acordo sobre sua localização, sendo geralmente estabelecida uma relação com o monte Olimpo, ponto mais alto da península grega. Situado em um lugar misterioso, acima das mais altas montanhas da Terra, possuía penhascos que olhavam para picos de diversas alturas, formando um cenário repleto de encanto e beleza. Há narrativas que retratam o lugar cercado por muros e ligado ao exterior por inúmeras portas cuja entrada principal apresentava-se em destaque, geralmente protegida por um septo de nuvens, guardada pelas Horas, divindades das estações e porteiras desse sagrado lugar. Pode-se pensar no Olimpo como uma cidade, um conjunto de palácios de cristal que abrigava as residências dos deuses, iluminava-se com as festividades e encantava-se com as assembléias dirigidas por Zeus, o deus maior, chefe absoluto de todos. Além dos deuses superiores havia ali divindades menores e semideuses, concebidos da união com os humanos. Lá não existiam estações e nem o tempo mudava: jamais chovia, nunca ventava e o sol iluminava sempre aquele reino brilhante. Os deuses olímpicos moravam nesse lugar celestial, que estava também conectado à terra. Alimentavam-se com ambrosia, manjar divino, e bebiam néctar, ao som da lira de Apolo, fascinados pelos cânticos e danças das Cárites e das Musas. Não envelheciam, desfrutando da juventude eterna. No Olimpo cada divindade encontrava-se provida por atributos e habilidades, desempenhavam as mais diversas funções e desígnios e olhavam para os pobres humanos mortais e suas cidades construídas abaixo das espessas nuvens, sobre o solo terrestre (KURY, 2008; AQUINO, 2007).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
43
1.1 As Cidades: Construídas e Reveladas O imaginário das cidades nasce desta substituição constante, desta mobilidade permanente entre os signos que compõem a cidade real pelos que construíram a cidade imaginária. Sendo imaginar mais simples que construir, mais econômico, mais expedito, a imaginação surge como o artifício que nos medeia o real. (DIAS; FERNANDES, 1989, p. 358).
Inicio esta viagem pensando em tantas cidades grandes e pequenas que existem no mundo, lugares com suas diversas dimensões, culturas, complexidades, paisagens, velocidades, cheiros, sons e cores. Cidades que abraçam habitantes e visitantes que vivem cotidianos repletos de buscas e realizações. “ „Quem somos?‟ é inseparável de „de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos?‟” (MORIN, 2007, p.25). Tanto os indivíduos, quanto as cidades se constituem
desses
múltiplos
contatos,
encontros
fugidios
e
duradouros, relações esporádicas e constantes, partilhar de espaços e cenários nos quais ser e estar são verbos conjugados continuamente. Do litoral ao sertão de Pernambuco muitas foram as cidades percorridas em minha trajetória de pesquisa. Ao caminhar pelas ruas do Recife, capital do Estado, percebia os transeuntes que passavam apressadamente por mim. Eram corpos multiformes, rostos com semblantes diversos, peles de tons variados, vidas carregadas de significados. Pouco ou nada sabia sobre o cotidiano daquelas pessoas, mas podia imaginar que corriam assim, apressadas, em busca da sobrevivência e realização. O conjunto de indivíduos transformava-se em multidão. O entrelaçado das ruas formatava o tecido urbano e os altos edifícios desenhavam uma muralha de vidraças brilhantes, ao longo das avenidas. As buzinas irritadas formavam uma sonoridade intensa e marcante. Assim a cidade se povoava dessa diversidade de humanos e objetos, fazendo-se cenário de um cotidiano característico das grandes metrópoles. Em outro contexto, ao percorrer as ruas estreitas de alguma conhecida cidade interiorana, cruzando praças, caminhando pela feira
Capítulo 1- Lugares e Tradições
44
próxima à matriz, tinha o meu percurso interrompido por encontros casuais com amigos, parentes, conhecidos, que calorosamente falavam comigo. Rostos que reconheci durante o desenvolvimento do trabalho de campo, alguns com peles marcadas pelo tempo, corpos com estaturas variadas, vidas repletas de sentido e aspirações. As paisagens nas pequeninas cidades visitadas eram pintadas, ora pelo verde presente na vegetação viva, ora pelos marrons-acinzentados que denunciavam a escassez das chuvas. Geralmente apresentavam-se serenas, trazendo uma sonoridade de bichos e gente que vivenciavam as relações cotidianas. Entre a grande metrópole e os pequeninos lugarejos observei cidades em crescimento, manchas populacionais que aumentavam a cada ano. Os 185 municípios que formavam o estado de Pernambuco podiam representar nitidamente essas diversas escalas que traziam consigo a dinâmica e complexidade contemporânea. Essas viagens e encontros marcaram de forma contundente a minha memória. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir; a surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. (CALVINO, 2006, p. 28).
Assim as viagens trouxeram o encantamento de novas descobertas e antigas recordações. Como um viajante atento aos detalhes de cada lugar e como um curioso observador, com sede de conhecimento, iniciei e conclui os itinerários que me levaram a percorrer os municípios pernambucanos: dos menores lugarejos com pequeninos centros cercados pelos sítios circunvizinhos até os aglomerados urbanos inseridos na problemática do desenvolvimento existente nas grandes metrópoles. Nessa caminhada compactuei cada vez mais com a ideia de que “a cidade é um livro texto que se deixa desnudar pelo narrador” (NOGUEIRA, 1998, p.117). Algumas cidades estavam tão próximas que era quase impossível perceber os limites que as separavam, a não ser pela sinalização rodoviária. Outras guardavam enormes distâncias que
Capítulo 1- Lugares e Tradições
45
pareciam infinitas. Dependendo da região, pude contemplar o mar que banhava a Capital e as cidades litorâneas; perder de vista os verdejantes canaviais e pastos para o gado, que parecia pinceladas brancas em um quadro impressionista; admirar as paisagens marcadas pelo cinza e marrons, repletas de vegetação retorcida do agreste e das cactáceas do sertão. E nessa caminhada pude realmente comprovar que “o homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade” (CALVINO, 2006, p. 12). Construídas e reveladas cada cidade é uma cidade. Cidades visíveis, que podem ser percebidas pelas características de sua arquitetura, pela multiplicidade de suas paisagens, pelos detalhes de seu clima e peculiaridade de seus indivíduos. Cidades invisíveis, erguidas pelas lembranças de seus moradores e construídas sob alicerces de histórias marcadas pelas suas tradições. “A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata” (CALVINO, 2006, p. 14). Cidades imaginadas em nossas mentes, a partir de identidades propagadas pela mídia, chavões que identificam os lugares, slogans que, de uma forma simples e rápida vendem uma imagem que as caracterizam. E tanto o viajante, quanto o [1] Michel Maffesoli utiliza o conceito de tempo-lugar no qual se desenvolvem as relações cotidianas. “Naturalmente, devemos estar atentos ao componente relacional da vida. O homem em relação. Não apenas a relação interindividual, mas também a que me liga a um território, a uma cidade, a um meio ambiente natural que compartilho com os outros. Estas são pequenas histórias do diaa-dia: tempo que se cristaliza em espaço.” (1987, p.169). O tempo- lugar faz o elo, marca a vida das pessoas (MAFFESOLI, 2004).
morador, vivem na tensão entre a cidade real, a cidade utópica e a cidade mítica. Eles estão “[...] no intervalo entre a cidade e o sonho da cidade” (ROUANET, 2007, p. 21). Nas cidades percorridas observei sempre que proximidade e afastamento entre os indivíduos e entre estes e os lugares são elementos que atuam diferentemente no tempo-lugar1, conforme a dimensão e complexidade de cada canto. O contato com diversas comunidades só serviu para reiterar a percepção de que nas pequenas cidades interioranas de Pernambuco as dimensões geográficas e habitacionais são bem mais reduzidas: elas guardam escalas espaciais menores e convívio ampliado pela proximidade. Os moradores se conhecem pelo nome e sobrenome. Relações de parentesco e vizinhança se mantêm nesses lugares onde é possível conjugar o verbo encontrar: a cidade é relacional formada por seus pequenos e simples
Capítulo 1- Lugares e Tradições
46
locais onde se podem usufruir prazeres do compartilhar. A escala ajuda nessas relações de proximidade e o tempo parece passar de forma mais amena, diminuindo a velocidade dos atos e aumentando a força de se vivenciar um presente pleno. Nos pequenos vilarejos os habitantes não param de se observar mutuamente. A memória registra acontecimentos e gestos que repercutem na pequena sociedade, contribuindo para modificá-la (HALBWACHS, 1990). Nas grandes metrópoles, diferentemente, a velocidade e a dinâmica da vida urbana formata um convívio mais fluido: cotidiano construído sob a base do anonimato. Uma grande cidade “[...] constitui um turbilhão permanente ordem/ desordem/organização através de miríades de interações e retroações. (MORIN, 2007, p. 192).” Nas ruas e avenidas transeuntes formam uma multidão de pessoas sem nome, que segue apressadamente em diversas direções e com objetivos individuais. Nos centros comerciais compradores e vendedores trocam apenas as palavras necessárias à concretização dos negócios. No trânsito, motoristas solitários ou usuários de coletivos fazem silenciosos percursos em meio a infindáveis engarrafamentos. A mobilidade geográfica, a disposição arquitetônica, o contínuo migratório, influenciam no sentimento em relação aos espaços da cidade grande. Algumas cidades se caracterizam por terem fronteiras que desaparecem: são cidades cujas descrições se confundem; são problemas sociais e econômicos que se repetem; são ações militares que ocorrem em espaços reais, sobrepostos por ações eletrônicas, guerras cibernéticas que desafiam as regras tradicionais de distância, tempo e velocidade. (BRANQUINHO, 2007)
Qualquer que seja a dimensão das cidades, conhecê-las e identificá-las significa atiçar todos os nossos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato e porque não incluir um sexto elemento, atrelado a nossa imaginação: formam um conjunto que ajuda na identificação dos lugares, marcando a lembrança de moradores e visitantes. Isso revela que o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo Capítulo 1- Lugares e Tradições
47
exterior. As percepções são traduções e reconstruções cerebrais baseadas nos estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos (MORIN, 2002a). Penso que essa teia de sentidos e sensações é de suma importância para que consigamos captar melhor as cidades em que vivemos ou visitamos. A reunião de elementos da natureza que nos cerca; as tantas produções fruto da interferência humana; os indivíduos com seus detalhes singulares que caracterizam cada povo e sua miscigenação: tudo desperta o sentido da visão e ajuda a desenhar a identidade citadina. As melodias, os sotaques, o silêncio, o barulho, formam uma musicalidade que permite a audição dos sons próprios de cada comunidade. A culinária também aciona lembranças inesquecíveis dos lugares por onde passamos. A cozinha é uma linguagem por meio do qual falamos de nós mesmos e sobre os lugares do mundo (WOODWARD, 2009). Como servimos os alimentos, organizamos os pratos, misturamos ingredientes e temperos, elaboramos rituais associados à prática de ingerir os alimentos, cultuamos as proibições de consumo em função de restrições religiosas, crenças, costumes tradicionais: é um conjunto complexo e revelador. A comida é boa para se pensar sobre o homem e suas relações; é repleta de significados simbólicos, sendo um exemplo da transformação de natureza em cultura (LÉVI-STRAUSS, 2004). É tão importante quanto a língua, sendo uma forma de comunicação. Como o paladar, o olfato absorve cheiros que traduzem a cultura de cada povo, de sua culinária, da natureza presente, do desenvolvimento humano. Perfumes deliciosos e odores marcantes são como cicatrizes, trazendo recordações. O sentido tátil, por sua vez, revela a maciez e aspereza de superfícies, texturas, peles, tecidos, singularidades de materiais e objetos existentes nos lugares, a partir do contato com nossos corpos. Ampliando essas sensações, destaco a sensibilidade, o inteligível, a imaginação, que tudo cria, tudo liga, tudo lembra, tudo esquece, tudo permite: verdadeira condição de sabedoria e conhecimento. A partir de
Capítulo 1- Lugares e Tradições
48
todos esses elementos que dialogam incessantemente, as cidades são registradas em nossas mentes e em nossas almas, são identificadas, e podemos, através das enraizadas lembranças causadas por essas sensações, nos transportar até elas. Assim as cidades revelam identidades próprias e construídas e ao percorrê-las percebemos que: É impossível apreender em sua totalidade esse universo infinito de símbolos que envolvem a cidade, pois cada um de nós estabelece relações próprias com o lugar, descreve com ele uma trajetória sempre singular. (NOGUEIRA, 1998, p.117).
Acionando esse conjunto de sentidos desejei captar as cidades, observando, dentro da possibilidade espacial-temporal da pesquisa, grandes e pequeninos labirintos nelas revelados pelas paisagens e cenários e, principalmente, pelas histórias registradas e contadas por seu povo e dos rastros deixados por de seus objetos: buscando as associações de humanos e não-humanos, atribuindo-lhes o devido valor de atores (LATOUR, 2012). Ao andar pelas ruas tanto de Bezerros quanto de Afogados da Ingazeira, contemplei as casas coloridas repletas de vida que emolduravam, com suas janelas, os moradores (Fig. 01 e 02). Estes traziam nos rostos as marcas profundas do tempo vivido. Nesse aprendizado constante observei que tanto as casas, quanto a cidade, “[...] não são verdadeiros objetos, já que fazem parte de nós mesmos desde o início, pois o espaço afetivo é anterior ao espaço geométrico” e se ambas parecem que sempre estiveram ali “[...] é porque foram assimiladas inconscientemente, como naturais, pelo processo de identificação, antes que nos déssemos conta disso” (ROUANET, 2007, p. 16). Tentei perceber não o que se apresentava visível, mas o que estava envolto em certa invisibilidade, embasado nas relações, nas [2] Esse conceito será retomado no Capítulo 03
conexões, na política, no plasma2, que é como um pano de fundo repleto de dinamismo. É ele [o plasma] que nos possibilita mensurar a extensão de nossas ignorâncias a respeito das cidades. (LATOUR, 2010). Assim, o construído e o revelado, os registros e as lembranças,
Capítulo 1- Lugares e Tradições
49
formaram uma espessa camada: argila fértil da qual pude sorver os ensinamentos sobre os lugares que precisava melhor conhecer. 1.1.1 Bezerros: Proximidade da Capital [...] Os mitos, ou lendas, se propagam nas mais diversas dimensões, com o natural embaralhamento de fatos ou de episódios [...]. (SOUTO MAIOR, 2005, p. 45).
Partindo do litoral até Bezerros, pela BR 232, parece que todas as cidades estão agregadas à Capital. Recife, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Vitória de Santo Antão, Pombos, Gravatá e Bezerros formam uma linha que liga as cidades cortadas pela BR, caminho que oferece uma viagem tranqüila, possibilitando sentir a diminuição da temperatura e a mudança na paisagem (APÊNDICE C). Em alguns momentos, principalmente no início das manhãs, quando o sol ainda não mostrou toda a sua força, muitos moradores usavam o acostamento para exercitar-se em longas caminhadas. Os andarilhos, levando consigo sua casa e seus sonhos seguiam também ao longo da via, chamando a atenção dos motoristas por seus desgrenhados cabelos, roupas sujas e sonora conversa com o vento. Ao encontrá-los no percurso, eu ficava sempre pensando naqueles encontros fugidios, que provavelmente, nunca mais tornariam a acontecer. A distância entre os municípios era minimizada pelas lindas paisagens, formadas por folhagens de cor e cheiro, pelas flores de cheiro e cor, pelos frutos de cor e sabor e por pessoas e bichos de cor e som, fechando assim um ciclo de encontros entre tantos seres animados. As plantações de verduras, as feiras coloridas, as casas que se debruçavam sobre a cinza estrada de asfalto, o relevo do Planalto da Borborema cujo cenário atingia sua magnitude na visão dos penhascos da Serra das Russas, tudo isso fazia com que o trajeto de Recife até Bezerros se tornasse um pulo. Iniciei, assim, minha aprendizagem sobre Bezerros e seu povo. Ronaldo Souto Maior, historiador Bezerrense, afirma que o maior patrimônio que um povo pode ter é sua história, suas tradições, sua identidade. Essa história muitas vezes não tem os registros escritos, Capítulo 1- Lugares e Tradições
50
pois “para os colonizadores, ou desbravadores da região agrestina, o tempo foi sacralizado como forma de aquisição de extensas terras, e não com a consciência de fazer história, mesmo porque sua cultura era econômica, e não intelectual” (SOUTO MAIOR, 2005, p. 45). Daí a necessidade e importância de montarmos um quadro a partir dos poucos registros escritos e da tradição oral, passada através das gerações. A história de Bezerros pode começar a ser formatada a partir do nome da cidade e a origem do município. Segundo a tradição oral e alguns dados históricos, os Torres foram os primeiros ocupantes daquela área, pois em torno de 1683, Manuel Torres recebeu vinte léguas de terras agrestinas, resultado do processo de doação de sesmarias, característico do período de colonização. Ali foi formada a fazenda dos Currais, que posteriormente seria vendida a um morador de Recife, da família Brayner. Nos registros do consagrado historiador Pereira da Costa (apud SOUTO MAIOR, 2005), havia no local onde hoje se encontra a cidade sede de Bezerros uma fazenda de criação de gado, pertencente a um membro da família Brayner, nas primeiras décadas do século XVII. Esse, por sua vez, deu guarida aos irmãos José e Francisco Bezerra. Sendo devotos de São José, os irmãos ergueram uma capelinha de taipa na fazenda, passando a ser chamada pelos moradores da região de capelinha de São José dos Bezerros. Como observa Mircea Eliade, “Não se faz „nosso‟ um território senão „recriando-o‟ de novo, quer dizer: consagrando-o” (1992, p. 45). Esse comportamento religioso de marcar os territórios com cruzes, erguer santuários,
edificar
igrejas,
foi
herdado
dos
conquistadores
portugueses e espanhóis. Transformando-se depois em abastados fazendeiros, os Bezerras foram os responsáveis pela formação da comunidade em torno da Capela, hoje Matriz do município (Dig. 01). A partir de 1768 a povoação, inicialmente chamada dos Bezerras ou dos Bezerros, finalmente teve o nome Bezerros, denominação que perdura até hoje.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
51
Como afirma o historiador, “não se pode negar, pois, que o nome BEZERROS está fortemente ligado, não somente ao nome dos proprietários, bem como na atividade ali desenvolvida, uma fazenda de bezerros.” (SOUTO MAIOR, 2005, p. 50). Existem, contudo outros mitos de origem sobre o nome do município. Segundo a tradição oral, o local onde se ergueu a cidade era uma queimada de bezerros. Outra versão é que um dos filhos da família Bezerra havia se perdido e houve uma promessa a São José para encontrá-lo com vida, sendo erguida a capela em sua homenagem. O povoado de São José dos Bezerros foi elevado a Curato em 1768, e posteriormente, em 1805 à categoria de Freguesia, desmembrada da paróquia da freguesia de Santo Antão. Em 1870 passou a ser reconhecida como Vila. O desenvolvimento ampliou-se e com ele mais fazendas foram surgindo e novos engenhos instalados, ocasionando a derrubada de matas para a construção de moradias e estradas. A força humana e escrava trabalharam lado a lado para o enriquecimento dos senhores proprietários de terra. Já no período republicano, muitos engenhos de açúcar e rapadura passaram a dedicar-se à produção de café, ficando o município em destaque no cenário cafeeiro de Pernambuco. Logo Bezerros revelou sua importância social, econômica e religiosa (SOUTO MAIOR, 2005). Situado na Região de Desenvolvimento do Estado de [3] O Agreste Central é composto por 26 municípios, conforme mapa (APÊNDICE A).
Pernambuco denominada Agreste Central3, Bezerros limita-se ao Norte com os municípios de Cumaru e Passira, ao Sul com Sairé, Camocim de São Felix e São Joaquim do Monte, à Oeste e Noroeste com Caruaru e Riacho das Almas e à Leste e Sudeste com Gravatá e Sairé (APÊNDICE D). A sede do município está distante 105 quilômetros da Capital, numa altitude de 471 metros do nível do mar. O município encontra-se na porção oriental do Maciço da Borborema, uma superfície aplainada com cerca e 400 metros de altitude, mas contando com elevações que oscilam entre 600 a 800 metros. Em seu entorno, as serras formam uma linda paisagem marcada pelos claro-
Capítulo 1- Lugares e Tradições
52
[4] Dentre as Serras destacam-se Serra Negra, Serra Nova, Alto da Vertente, Serra do Retiro, Mirante do Monte Guaribas, Serra de Camaratuba. (GOVERNO DE PERNAMBUCO, 1982).
escuros dos cinzas do relevo4 (Dig.02). Serra Negra, à cerca de 900 metros de altitude, é um importante ponto turístico, sendo visitada durante todo o ano em função da amenidade de seu clima e da presença
marcante
de
belos
cenários
(GOVERNO
DE
PERNAMBUCO, 1982). A vegetação da região em torno do município caracteriza-se pela predominância de cactáceas e bromélias, típicas do agreste. Uma vegetação mais densa de mata serrana pode ser encontrada nas áreas mais elevadas. De vital importância para a origem e desenvolvimento da região, as bacias hidrográficas dos rios Capibaribe e Ipojuca formam a rede de drenagem que corta o município. Pequenos afluentes do Capibaribe, com regime fluvial intermitente passam na região e o próprio rio Ipojuca, perene, cruza a cidade de Bezerros, sendo uma referência para sua história. Hoje esse rio sofre com a poluição gerada pelos aglomerados urbanos constituídos ao longo de todo o seu curso. O distrito sede e os distritos de Sapucarana e Boas Novas constituem o município, onde encontramos os povoados principais de Serra Negra, Sítio dos Remédios, Cajazeiras e Areias. A população registrada no ano de 2010 era de aproximadamente 58.700 habitantes. No distrito de Boas Novas existe uma comunidade quilombola de Guaribas de Baixo, com cerca de 100 famílias, marcando os remanescentes de um passado tatuado pela escravidão do período colonizador. (IBGE, 2010; PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS, 2011). Distante 23 quilômetros do centro de Gravatá e 31 quilômetros do centro de Caruaru - dois pólos de grande importância comercial e turística - Bezerros também se mostra como uma cidade em crescimento. Percorrendo suas ruas ladeirosas, marcadas por casas com fachadas coloridas e bem cuidadas, a cidade agrupa no centro, próximo à Matriz de São José, um comércio varejista bastante diversificado (Dig. 03). Na área industrial abrange a fabricação de doces, gêneros alimentícios, bebidas, bem como a produção de
Capítulo 1- Lugares e Tradições
53
cerâmicas, pré-moldados, serrarias e plástico. A agricultura temporária de hortaliças e culturas de subsistência de grãos, ao lado da pecuária de bovinos, suínos, ovinos e caprinos, e criação de aves são importantes atividades econômicas da região (IBGE 2010; PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS, 2011). A cidade destaca-se pelas ações que envolvem a cultura e o turismo. A amenidade do clima e a culinária típica da região são elementos que servem de atrativo para a visitação. Podem-se presenciar temperaturas que variam nos meses mais frios de maio a agosto, entre 15ºC a 18ºC. Ali são encontrados inúmeros pratos da gastronomia nordestina, como o bode, a galinha de capoeira, e os bolos e doces para sobremesa. No distrito de Serra Negra os visitantes têm uma privilegiada visão: mirantes com cerca de 900 metros de altitude e sob uma temperatura que pode chegar a 8ºC. O Parque Ecológico de Serra Negra exibe cenários exuberantes com vegetação, açudes e fontes naturais, o que chama a atenção dos amantes do turismo ecológico e dos esportes radicais (Dig. 04). Entre os mais expressivos exemplos do artesanato bezerrense encontra-se a confecção de bumbas e máscaras em papel machê, os brinquedos em madeira, as frutas em cerâmica e os trabalhos de xilogravura, com destaque para a produção do artista J. Borges. Nascido em Bezerros em 1935. José Francisco Borges é reconhecido como mestre em sua Arte5. Embora tenha cursado apenas 10 meses na escola, desenvolveu uma aprendizagem através dos folhetos de cordel, tornando-se escritor desta arte popular. Passou, então a atrelar a arte [5] Capa do cordel O Carnaval do Papangu, de autoria de J Borges. [6] Parte de uma entrevista transcrita do folder de exposição A Arte de J. Borges: do Cordel à Xilogravura, organizada pela CAIXA Cultural, Rio de Janeiro, 2009.
do cordel à da xilogravura. E ainda hoje faço cordel, já tenho além de 200 títulos publicados e espalhados pelo mundo. Melhor ainda foi porque a necessidade de ilustrar o cordel me levou a ilustrar sem nunca ter visto como era. Desde essa data eu virei artista, pela necessidade de ilustrar virei xilógrafo– gravador popular. (J. Borges6)
O mestre mantém um permanente acervo em seu ateliê, desenvolvendo com o auxílio dos familiares, folhetos de cordel, quadros e inúmeros objetos decorativos e de utilidade, sobre os quais Capítulo 1- Lugares e Tradições
54
imprime sua arte, conhecida no âmbito nacional e internacional (Dig. 05). J. Borges, Severino Paulo, José Paulo, Dalvino Xavier, Valeciano Celestino, Manoel Luiz formam o respeitado grupo de poetas populares e repentistas, uma elite da Cultura tradicional da região. Como se já não fosse suficiente poder visitar o ateliê de J. Borges e atiçar o sentido visual pela beleza de suas peças, a cidade foi escolhida para sediar o Centro de Artesanato de Pernambuco, onde visualizamos a melhor representação do artesanato do Estado, retratado no conjunto de trabalhos de mestres de diversos municípios. Ali, a madeira, a cerâmica, o tecido, o papel, as fibras, os pigmentos e tantos outros materiais usados pelos artesãos- artistas em sua labuta diária resultam em peças de rara beleza, pelo trabalho elaborado de artistas que esculpem, tramam, pintam, moldam, transformando a natureza em arte. Além de uma permanente exposição das obras produzidas no Estado, o Centro promove exposições temporárias, oficinas, palestras, cursos, divulgando e [7] No Centro de Artesanato de Pernambuco estão expostas peças de 29 municípios, representados por 220 artesãos- artistas: esculturas em madeira, peças em barro, xilogravuras, bordados, brinquedos, rendas e máscaras, entre outros. As peças são também comercializadas em uma loja anexa ao pavilhão de exposição.
ampliando nossa cultura7 (Dig.06). Destaco também como núcleos de grande importância para a cidade e região, o Instituto de Estudos Históricos, Artes e Folclores de Bezerros, criado com o objetivo de fomentar a pesquisa e divulgação da História, Arte e Folclore do município; o Centro Lítero Rui Barbosa e o Centro Cívico Cel. Salviano Machado. Na antiga Estação Ferroviária de Bezerros funciona hoje a Estação da Cultura, com o Museu do Papangu e uma Biblioteca (Dig. 07 e 08). Durante todo o ano a cidade recebe os turistas que chegam para conhecer a cultura da região e se divertir com as festas populares. Dentre elas o São João e o Carnaval são as mais representativas manifestações da Cultura da Tradição local. As festas juninas têm como foco as brincadeiras e apresentações na Serra Negra. Durante todo o mês de junho o povoado transforma-se em pólo, recebendo turistas de muitas regiões do Estado. O Carnaval tem o principal papel de catalisador do fluxo de visitantes, divulgando o município e maximizando a economia. A
Capítulo 1- Lugares e Tradições
55
história de comemorações do reinado momesco é marcada pela irreverência dos Papangus que invadem a cidade e o coração de quem os vê e nunca esquece (Fig. 03). [8] Turista, brincante, professor, 55 anos. Hoje se reconhece como Papangu. Depois que começou na folia nunca mais deixou de participar como mascarado.
Nasci em Recife, mas fui criado em Olinda, e o Carnaval está no meu sangue. Naquela época, quando criança, eu, meus irmãos e amigos saíamos fantasiados de palhaço ou alma. Deixei de brincar Carnaval e me fantasiar por muitos anos, mas nos últimos dez anos voltei à brincadeira. Assim conheci o Carnaval de Bezerros. Eu era um Papangu, e não sabia. (Frederico Braga8).
1.1.2 Seguindo para o Sertão: Afogados da Ingazeira Os signos flutuam; a cidade real aproxima-se da imaginada – a cidade imagina-se e alimenta-se do real, realizando e construindo imaginário. (DIAS; FERNANDES, 1989, p. 359).
Continuando minha caminhada pela BR 232 a partir de Bezerros observava sempre a predominância das cactáceas e a diminuição do fluxo de carros. Bezerros, Caruaru, São Caetano, Tacaimbó, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Arcoverde. Virando à direita em Cruzeiro do Nordeste (Placas), seguindo até Sertânia, depois Iguaraci e chegando, finalmente, à Afogados da Ingazeira. A decisão do percurso nas inúmeras viagens que fiz àquela região dependia sempre das condições da estrada estadual, que muitas vezes apresentava-se precária em função das chuvas intensas e falta de manutenção. Em algumas viagens segui pela BR 232 e, após Custódia, tomei a direção de Flores percorrendo parte da Trans-Pajeú (PE 320) até o meu destino (APÊNDICE C). Lembro-me das primeiras conversas que tive com os moradores de Afogados da Ingazeira, em 2008. Estava conhecendo o lugar e colhendo as informações iniciais sobre a brincadeira dos Tabaqueiros. Durante contatos informais, me reportava à cidade como Ingazeira e logo fui impelida a mudar a forma como me referia ao município: “Ingazeira não! Afogados da Ingazeira!”, disse um morador de forma contundente. Naquele momento as duas denominações significavam para mim a mesma coisa, mas uma pesquisa mais aprofundada sobre a história do município conduziu-me ao Capítulo 1- Lugares e Tradições
56
entendimento da diferença entre elas. Para uma maior compreensão sobre a origem de Afogados da Ingazeira, tive que retornar ao início das ocupações das férteis terras banhadas pelo rio Pajeú, até chegar à realidade do município no contexto atual. Os rios e as cavernas sempre foram locais privilegiadas para o estabelecimento de grupos humanos. Na região do Alto Pajeú os [9] Os registros arqueológicos podem ser encontrados no distrito de Queimada Grande, na Serra do Opa, a nove quilômetros da sede do município de Afogados da Ingazeira; nas encostas da Serra do Leitão da Carapuça, a 22 quilômetros da sede; no Poço dos Escritos, no município de Tabira; e no Sítio Buqueirão, na Serra da Matinha, situado no município de Carnaíba. (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 1997).
abrigos rochosos situados nas encostas de diversas serras9 compõem um significativo conjunto arqueológico: sítios que comprovam a presença
do
homem
pré-histórico
na
área.
(PREFEITURA
MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 1997). Em meados do século XVII inicia-se a evangelização dos índios pelos missionários capuchinhos, vindos do Recife (PIRES, 2004). Assinalando o período da colonização, o Jesuíta Fernão Cardin registra em 1584, no Tratado dos Índios no Brasil, a presença dos índios cariris, como os primeiros habitantes daquelas regiões elevadas e frias do Planalto da Borborema. Reconhecidos como primorosos guerreiros eram temidos pelos tupis do litoral, sendo por eles denominados de tapuias - inimigo invencível. A freguesia das Flores foi a primeira a prosperar naquela região. Alguns terrenos à margem do rio Pajeú, apropriadas à agricultura e pecuária, serviram de local para o desenvolvimento da fazenda Ingazeira, de propriedade de Agostinho Nogueira de Carvalho, que iniciou em 1820 a construção de uma Capela em suas terras. Ali foi fundada a Vila de Ingazeira, transformada em freguesia de São José da Ingazeira, através de decreto expedido pela Assembléia Legislativa Provincial de Pernambuco. Em 1836 foi fundado o distrito de Ingazeira, subordinada ao município de Flores (PIRES, 2004). Os povoamentos naquelas áreas foram originários da introdução da pecuária no sertão, principalmente de criadores de gado e boiadeiros que se deslocavam de Olinda e Salvador, estabelecendo-se em terras de boas pastagens, condicionados à existência de águas fluviais. Os currais originaram núcleos populacionais maiores. O município de Afogados da Ingazeira teve sua origem a partir da
Capítulo 1- Lugares e Tradições
57
construção de uma casa de oração de taipa, erguida por um capelão e que, posteriormente, foi substituída por uma construção em alvenaria, em 1836, pela iniciativa de Cel. Manoel Francisco da Silva. Este, descendente de portugueses, era proprietário da fazenda Barra de Passagem, também chamada de fazenda da Misericórdia. Ali foi colocada a imagem de Senhor Bom Jesus dos Remédios, ainda hoje padroeiro da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 2006; PIRES, 2004). O que mais concorreu para a instalação do Sr. Manoel Francisco nessa região, além de sua atração natural pela criação de animais, foi o rio Pajeú. Admirador profundo de suas águas, quer no inverno, quando as nossas margens eram inundadas e frondosos ingazeiros sombreavam suas margens, quer no verão, quando seu leito de areia branca formava vários poços de águas paradas que permaneciam até as novas enxurradas. (FONSECA, p.28, 2003).
A história oral revela ensinamentos sobre a denominação do município. O mito de origem sobre o nome do lugarejo que ali seria formado destaca que em um passado remoto, por volta de 1930 e 1940, um casal de viajantes, ao tentar atravessar o rio Pajeú em tempo de enchente, foi arrebatado pela correnteza. Seus corpos foram encontrados sob uma Ingazeira, na ribanceira do rio. Daí o nome Passagem dos Afogados, ou simplesmente Afogados (PIRES, 2004). Inicialmente o vilarejo de Afogados foi subordinado ao distrito de Ingazeira. Em 1860 inicia-se o desenvolvimento das terras férteis próximas as Serras da Colônia, da Conceição e da Carapuça. Nas fazendas e engenhos eram cultivados produtos agrícolas e com o passar do tempo ampliou-se o comércio de algodão, utilizando-se mão de obra escrava. Em 1879, em pleno desenvolvimento, a freguesia de Ingazeira foi transferida para Afogados. Em 1909 Ingazeira passou a ser distrito de Afogados, que se tornou sede do município. Como em Recife, capital do Estado, já existia a freguesia dos Afogados, a cidade de Afogados do Pajeú ficou sendo denominada de Afogados da Ingazeira (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 1997).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
58
Hoje a cidade de Ingazeira é conhecida como Cidade Mãe aquela que originou o município de Afogados da Ingazeira, identidade esta que muito orgulha seus habitantes. Contudo, os moradores de Afogados da Ingazeira são enfáticos ao revelarem o orgulho de serem filhos de Afogados da Ingazeira, que não deve ser confundida com a cidade de Ingazeira (Dig.09). Pertencente à Região de Desenvolvimento do Estado de [10] O Sertão do Pajeú é formado por 17 municípios (APÊNDICE A).
Pernambuco denominada de Sertão do Pajeú10, Afogados da Ingazeira localiza-se a 372 quilômetros distante da Capital, Recife. Estando a uma altitude de 515 metros do nível do mar, o município limita-se ao Norte com Solidão e Tabira, ao Sul com Iguaracy e Carnaíba, a leste com Tabira e Iguaracy e à Oeste com Carnaíba (APÊNDICE D). Com uma população de aproximadamente 35.000 habitantes, registros de 2010, o município destaca-se pelo comércio, por ser sede de
[11] Existe hoje a Autarquia Educacional de Afogados da IngazeiraFaculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira AEDAI – FAFOPAI.
diversos órgãos públicos e por possuir instituição de ensino superior 11 Os povoados de Carapuça, Queimada Grande, Alto Vermelho, Pintada e Varzinha, fazem parte do município. As principais vias de acesso são, partindo de Recife, BR 232, BR 110, PE 280, PE 275, PE 292,
(PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AFOGADOS
DA
INGAZEIRA, 2008; 2006; IBGE 2010); (APÊNDICE C). O clima da região é semi-árido quente, com maiores incidências de chuva entre novembro e abril e sujeito à secas nos períodos de estiagem. As temperaturas variam entre 20ºC e 36ºC, com média de 27ºC, podendo chegar próxima aos 18ºC nos meses mais frios. A vegetação predominante é formada por arbustos e cactáceas característicos da caatinga, existindo áreas com vegetação de arbustos e árvores de pequeno porte adaptadas à falta d‟água, como o umbuzeiro, a barriguda, o marmeleiro e o angico (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 2006). Atualmente as principais atividades do município são no setor agropecuário e de indústria de móveis. A região está situada em uma área de extensa beleza natural, com cavernas, sítios históricos, fontes naturais, serras e reservas florestais, que pode ser potencializada para a
Capítulo 1- Lugares e Tradições
59
[12] Dentre esses atrativos turísticos podemos destacar: os registros rupestres presentes na Serra do Giz e na Casa da Rocha, ambos localizados no Povoado da Carapaça; a Cachoeira Mina da Carapaça; a Furna do Pinga, com sua nascente intermitente e os Caldeirões do Zé Artur, formações rochosas que se transformam, no período chuvoso, em piscinas naturais; o Mirante da Serra da Queimada Grande e a Barragem de Brotas
exploração
turística12.
(PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AFOGADOS DA INGAZEIRA, 1997; 2008). É importante registrar a existência das comunidades quilombolas do Leitão da Carapuça e Jiquiri, descendentes de escravos vindos das regiões de Carnaíba das Flores e Ribeira e região do Moxotó. Esses grupos guardam ainda hoje marcas de sua cultura. O rio Pajeú revela uma importância real e simbólica para os afogadenses que se enchem de orgulho por fazerem parte de uma comunidade erguida às suas margens. O rio não é o mesmo e a insatisfação pelas mudanças é cantada nos versos dos sertanejos. Meu Rio Pajeú (Daniel Bueno) Quem te viu quem te vê meu Pajeú Rio sagrado dos índios cariris No teu leito hoje só tem mandacaru Lavadeiras, urubus e juritis No inverno era um dom tua beleza Pajeú era um rio tão selvagem Quem vivia na tua redondeza Se juntava pra ver tua passagem E na fúria da tua correnteza Toras, troncos, raízes e ramagens Cada enchente era um show da natureza Que eu corria pra ver em tuas margens Teu cenário hoje modificou tanto Que o meu canto ficou triste e sombrio O prazer do poeta virou pranto Pajeú... já não é o mesmo rio Não se vê mais largura e profundeza Te prenderam em represas, mil barragens Sertanejos aclamam tuas proezas Teus baixios, vazantes e paisagens... Pajeú, não é mais o mesmo rio...
Natureza e cultura criam a teia na existência dos indivíduos e dos lugares. Como o rio, as festas e folguedos marcam a vida dos moradores e a história de Afogados da Ingazeira. Desde a década de 1920 há registros das cavalhadas e da dança do pastoril. Na década de 1940 formou-se a maior banda de música do sertão de Pernambuco, que se apresentava no coreto da Praça da Matriz, Praça Domingos Teotônio, sob a regência do oficial militar Guinga. O coreto, Capítulo 1- Lugares e Tradições
60
importante ponto de encontro e eventos, foi demolido em 1970, sendo construída a nova Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. (Dig 10). Os espaços e suas edificações ressaltam o pensamento de que “os edifícios comportam uma dupla forma de recepção: pelo uso e pela percepção. Em outras palavras: por meios táteis e óticos.” (BENJAMIN, 1994, p.193) A história revela que as praças tornam-se geralmente locais de reunião comunal. Em Afogados da Ingazeira esses espaços são abrigo das festas religiosas e do comércio informal de barraquinhas de brincadeiras e alimentos. Atualmente além da Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, que abrange a Catedral do Bom Jesus dos Remédios e a Prefeitura de Afogados da Ingazeira, os afogadenses contam com a Praça da Alimentação, também no centro da cidade. Nela, existem quiosques para comercialização de bebidas e alimentos (Dig. 11). Na gastronomia, a presença de pratos típicos da culinária sertaneja, como o arroz mexido com caldo de galinha ou bode, a carne de bode, a buchada, a pamonha com galinha de capoeira e o famoso tijolo, doce feito da batata do umbu-raiz da árvore, açúcar e frutas. As bandas de pífano, os cocos de roda, os bacamarteiros e as vaquejadas são importantes representações da cultura local. Destacamse também os sanfoneiros, que promovem o famoso Festival Regional da Sanfona, FERSAN, geralmente na última semana do mês de maio. Dentre as festividades sazonais o Carnaval sempre foi bastante comemorado. Há muitas décadas a presença dos mascarados nas ruas da cidade possibilita o ambiente festivo que envolve a todos. Assim os Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira vão a cada ano fortalecendo uma cultura passada através de gerações (Fig 04). No contato com as cidades, sua gente, seus objetos, eu bordava o tecido da aprendizagem. Na vida cotidiana -no trabalho diário, nas festas e folguedos, os grupos iam se formando, as associações de humanos e não- humanos desenhavam múltiplos campos de ação: diversidade de mundos nos quais podiam mover-se (Dig. 12).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
61
[Fig.01] Casario de Bezerros. (Acervo Graça Costa).
[Fig.02] A cidade de Afogados da Ingazeira. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
62
[Fig.03] Folia dos Papangus: quem conhece não esquece. (Acervo Graça Costa).
[Fig.04] Carnaval dos Tabaqueiros. (Acervo Beijamim Almeida).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
63
Dionísio, filho de Zeus, foi o último a chegar ao Olimpo. Era o deus universal, da vida, do renascer das plantas, animais e homens, e deus também, dos mortos. Conhecido como deus do bem e do mal, do frenesi e da demência; maníaco e ébrio. Fez muitas viagens, seguido sempre por cortejos de demônios da fecundidade, seus companheiros de percurso. Estes, Silenos, Bacantes e Satíricos, eram seres que ficavam a meio caminho entre a divindade e a bestialidade. Por onde passou Dionísio introduziu a desordem festiva, a bebedeira, manifestando seu poder através da loucura que propagava a todos, os quais lhe prestavam cultos orgiásticos, com formas violentas e extáticas. Figura emblemática até os nossos dias, tido como o barulhento, arraigado, apegado ao que é vivido plenamente. Pela sua ambiguidade foi reconhecido como o mais feminino dos deuses masculinos. Sendo deus da animação e da agitação, o culto dionisíaco era enaltecido pelos cantos, danças e embriaguez: era o culto do Carnaval. (GRIMAL, 2009, MAFFESOLI, 2003; 1985; ORTEGA Y GASSET, 1991). Capítulo 1- Lugares e Tradições
64
1.2 Festas: a Tradição que Reencanta Partimos da premissa de que os saberes da tradição não se encontram aprisionados no passado. Eles existem hoje, nos atravessam. E, aqui, é necessário compreender cultura como um sistema aberto, integrado por elementos que se relacionam de forma tensional dentro e fora do sistema; ou seja, interna e externamente. (AMORIM; NOGUEIRA; COSTA, 2010).
Desde os primórdios da existência humana a vida em grupo foi uma forma de superação das dificuldades, de ampliação de laços sociais: uma maneira prazerosa e necessária de ultrapassagem das barreiras cotidianas, uma construção de caminhos de diversas naturezas que se apresentam nas corriqueiras e complexas ações humanas. Na família, nas comunidades de vizinhança, nas associações de trabalho, nos grupos rurais ou citadinos, há cooperação, luta, disputa, ajuda, superação, enfrentamento, para que metas individuais e coletivas sejam possíveis de serem alcançadas. Dentre as ações humanas a organização e realização das festas podem ser destacadas como importantes momentos em que o homem desenvolve individualmente e coletivamente esforços para conseguir objetivos, ultrapassar barreiras, realizar sonhos, viver plenamente o espaçotempo. Festejar faz parte da natureza humana. A partir das festividades celebramos a vida, valorizamos conquistas, registramos ciclos, louvamos entidades, abençoamos instantes, mantemos e renovamos tradições, marcamos datas e desafiamos a flecha do tempo, buscando uma forma lúdica de nos eternizarmos. “Festeja-se sempre algo, mesmo quando o objeto seja aparentemente irrelevante” (AMARAL, 1998, p.39), pois o mais importante é a celebração e cada contexto no qual está inserida. A festa é um prazer: sentimento coletivo vivido com intensidade que penetra na entranhas do imaginário social: uma paixão comunal. É um pretexto para a liberação e o descomedidamento, ajudando-nos a lutar contra a angústia do tempo que passa (MAFFESOLI, 2003). Festa é arte, é ação, é organização e desordem, é criação. Está Capítulo 1- Lugares e Tradições
65
presente na maioria das culturas, desenvolve-se em diversos espaços, envolve abrangentes relações de gênero e sexualidade, perdura por diferentes períodos, materializa-se das mais amplas formas, estende-se às mais variadas crenças. Por tudo isso e muito mais, tantos são os pensadores e estudiosos que vêem nela uma oportunidade de conhecimento e aprendizagem sobre a essência humana. Por ser um fenômeno transcultural permite uma ampla abordagem em diversas áreas de estudo. Apesar de inteiramente integrada à sociedade, o tempo festivo é um período peculiar no qual a vida coletiva é extremamente intensa. Sendo uma forma marcante e primordial da civilização humana, não há necessidade de explicá-las como produto de finalidades práticas, ou justificá-las a partir de necessidades biológicas (DUVIGNAUD, 1983; BAKHTIN, 2002). Nesses momentos o homem afasta-se da racionalidade e da técnica e entrega-se às danças, transes, magias, ritos, que possibilitam o rebrotar nas almas emoções profundas. As festas, bem como os jogos, não representam apenas pausas antes de retomar a vida prática ou o trabalho, eles são necessários para a existência do homem enquanto sapiens sapiens demens. Como um parênteses colocado no interior do cotidiano, a festa viabiliza a transgressão da ordem estabelecida, a esbórnia manifestada pela efervescência grupal (ORTEGA Y GASSET, 1991; BALANDIER, 1997; MORIN, 2002b). A meu ver, a festa é como uma deusa de muitas faces e com um fantástico corpo multiforme; rostos cobertos por máscaras, corpo com vestes brilhantes, movida pela emoção e pelo prazer. De forma caleidoscópica, esse ser mutante transforma-se a cada comemoração, dentro dos ciclos do calendário. As festividades que compõem essa divindade transmutante oportunizam a celebração: grandiosidade festiva. Nela podem se desenvolver rituais de identidade étnica, reuniões solidárias, competições entre os brincantes e assistentes, numa perspectiva sempre relacional. A festa tem caráter polissêmico e polimorfo. Quem já presenciou os preparativos para uma festividade sempre terá em mente o conjunto de sensações que envolvem esses Capítulo 1- Lugares e Tradições
66
momentos, seja qual for o motivo da comemoração e o ciclo no qual se desenvolva. Nos pequeninos lugarejos, os terreiros são varridos, as casas são caiadas, as árvores são podadas e enfeitadas. Esses singelos atos feitos de forma doméstica, demonstram, com simplicidade, o cuidado dos moradores, que revelam a importância desses momentos especiais, mobilizando-se, conjuntamente, com um mesmo objetivo em torno de um único projeto. Da mesma forma, as cidades se vestem para abraçar moradores e visitantes, com o apoio municipal ou estadual, ou até nacional, dependendo da repercussão do evento. Nos mais diversos lugares as luzes fazem-se presente por lâmpadas, lampiões, fogueiras e pelo brilho das roupas e dos olhos dos participantes. Cores dominam os ambientes através de bandeiras, flores, estandartes, vestimentas, adereços, fantasias, maquiagem e máscaras. Os cheiros dos alimentos e das bebidas impregnam cada recanto, aguçando o paladar. Os relógios, nos dias de festa, são constantemente observados, pois o tempo é um precioso amigo que não deve ser esquecido, para que cada segundo possa ser vivido intensamente. E a cidade ganha um ritmo novo, tempo-mágico que marca a memória dos participantes. Nas grandes cidades as escalas são ampliadas de acordo com dimensão dos eventos. Outdoors e redes de comunicação espalham cronogramas com os horários e locais das atrações. Holofotes, caixas de som, palcos, arquibancadas, decoração, tudo gira em torno do sucesso e realização dos festejos. O trânsito de veículos e o fluxo de indivíduos formam multidões de seres e objetos que seguem para os pólos de animação, onde se presencia um desfile de signos e um retrato da diversidade Embora possa se pensar que na festa a religião do trabalho dá lugar ao ócio e à preguiça, acredito que, independente da dimensão do evento, a labuta é um companheiro presente, desde os meses de preparativos até o tempo de concretização da pândega. Planejar, esboçar, discutir, idealizar, executar, propagar, convidar, elaborar, organizar, ensaiar, apresentar, vender são alguns dos muitos verbos que poderiam aqui elencar uma seqüência de ações necessárias a Capítulo 1- Lugares e Tradições
67
realização da fantástica e trabalhosa dramatização. Tudo isso exige um esforço individual e coletivo, pois a festa é algo desejado, e nos faz pensar que “[...] algo muito apreciado é, por meio de sacrifícios, ambicionado, imitado, multiplicado e cresce em virtude de valor do esforço e do zelo que cada um nele aplica, fazendo com que o valor da própria coisa aumente” (NIETZSCHE, 2006, p. 92). Assim, em qualquer contexto ou dimensão, nas residências, nos quintais, nas ruas, nos pátios, nas praças, nos ginásios, nos estádios, as festas viabilizam o encontro entre as pessoas, fora de suas condições cotidianas e do papel que desempenham em uma coletividade organizada. “Então, a empatia ou a proximidade constituem os suportes de uma experiência que acentua intensamente as relações emocionais e os contatos afetivos, que multiplica ao infinito as comunicações [...]” (DUVIGNAUD, 1983, p. 68). E em toda parte a emoção se faz eternamente presente, enquanto dure a festa ou perdure a lembrança dela. A passagem de cada ano é pontuada por uma gama heterogênea de celebrações que dialogam, cada qual a sua maneira, com valores sagrados e profanos, locais e cosmopolitas, afetivos e mercantis. Nelas as desigualdades não são resolvidas, mas há uma participação conjunta de diferentes grupos étnicos e sociais em ambientes que encantam e intrigam participantes e admiradores (CAVALCANTI, 2004). É nesse universo que a Cultura da Tradição, nos ciclos do ano, se insere, se mantém e se renova. Segundo Morin a cultura é um sistema que deve assegurar a troca permanente entre três instâncias: indivíduo-sociedade-espécie. Para o autor é primordial a importância desse circuito que se estabelece na vida do homem, nos mais diversos momentos. Cada um desses termos é ao mesmo tempo meio e fim; é a cultura e a sociedade que garantem a realização dos indivíduos, e são as interações entre os indivíduos que permitem a perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade. (MORIN, 2002b, p. 54).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
68
Há, nesse sentido, através das celebrações da Cultura da Tradição, o encantamento e o reencantamento dos grupos e dos sujeitos, numa relação compartilhada de troca. Para Claudia Leitão (1997) a festa é um tempo em que os indivíduos unem-se, momento de fortalecer as relações sociais, de parentesco, de vizinhança, de aliança. Tempo de partilhar imagens ou “objetos imagéticos”, desenvolvendo socialidades. Compreendo que a emoção é essencial para o entendimento da magia festiva e, nesse contexto, interessa-me perquirir sobre essa seiva que dá vida à festa, possibilitando que uma outra maneira de ser e de existir ganhe consistência, acentuando o caráter ativo das experiências dos indivíduos e dos grupos. Para Jean-Paul Sartre a emoção é uma transformação do mundo. Quando não encontramos mais caminhos, ou quando os caminhos traçados são difíceis, precisamos agir. “Então tentamos mudar o mundo, isto é, vivê-lo como se as relações das coisas com suas potencialidades não estivessem reguladas por processos deterministas, mas pela magia” (SARTRE, 2010, p.63). A partir desta magia trazida pela emoção passamos a apreender um objeto novo, ou apreender um velho e conhecido objeto de uma maneira nova. Aí partimos para captar o mundo de outro modo, sob outro aspecto. “Em suma, na emoção é o corpo que, dirigido pela consciência, muda suas relações com o mundo para que eu e o mundo mude suas qualidades. Se a emoção é um jogo, é um jogo no qual acreditamos” (SARTRE, 2010, p.65). Para Sartre existem duas formas de emoção: quando somos nós que construímos a magia do mundo, ou quando o próprio mundo se revela bruscamente mágico, ao nosso redor. Muitas vezes essas duas formas se misturam. Percebo que dentre as diversas festas existentes durante os vários ciclos sazonais do ano, o Carnaval destaca-se pela explosão de emoção, vivenciada individualmente e coletivamente. Nesse espaço-tempo as amplas formas de emoção tomam vida e viabilizam uma nova vida que se estabelece.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
69
1.2.1 Carnaval: a Festa das Emoções Segundo as aparências, a festa atinge aquilo que constitui a finalidade última das comunidades, isto é, um mundo reconciliado, uma entidade fraternal. (DUVIGNAUD, 1983, p.69).
Jean Duvignaud chama a atenção para a desordem promovida pela festa, colocando o homem em face de um mundo sem estrutura e sem código, onde prevalecem as forças individuais do eu, os estímulos de subversão e afetividade. Dentre elas “o carnaval é a festa no sentido pleno” (DUVIGNAUD, 1983, p. 69), período que antecede o jejum da quaresma. Há indícios de que a palavra Carnaval possa estar associada à locução latina Carrus Navalis, fazendo referência à carroça em forma de barco usada nas festividades populares de Roma. Mais contundentes são as indicações de que o vocábulo tem sua origem do latim clássico Carnem Leváre, significando abstenção de carne, período que marca a jejum da carne no período da quaresma. Do milanês Carnelevale (século XII), passa ao italiano no século XIV como Carnevale e para o francês Carneval, já no século XIV (LIMA, 2001). A origem da festa carnavalesca liga-se à mitologia de vários povos antigos e seus cultos em homenagem à natureza, aos ciclos das colheitas e à fertilidade. As celebrações dos deuses egípcios Isis e Osíris e da deusa romana Ceres, Deméter para os gregos, assinalam elementos do ritual carnavalesco, apontando para os cultos relacionados com a germinação das sementes, e a fartura das colheitas. Eram dias de prazer, nos quais havia uma apologia ao corpo, a modificação das regras cotidianas e exaltação sexual. Na Grécia e na Roma Antiga as festas deixavam transparecer o culto aos prazeres e, uma permitida alteração da ordem marcava a mudança da rotina, No mesmo sentido de obediência às transformações das fases do ano, ciclicamente as festividades eram ajeitadas no calendário. (LIMA, 2001, p.07).
As celebrações dionisíacas homenageavam o deus grego Dionísio, representante da esbórnia. Já na Roma antiga, as festas aos deuses Baco, Pã e Saturno marcavam as pândegas dos bacanais, lupercais e Capítulo 1- Lugares e Tradições
70
saturnais. Nas três manifestações há uma nova ordem estabelecida, uma mudança dos hábitos cotidianos, regado pelo exagero e libertinagem. A orgia põe em ação a desordem das paixões, marca os momentos de existência, aciona o desregramento dos sentidos. (MAFFESOLI, 1985). Na idade Média e Renascimento os ritos e espetáculos desenhavam uma espécie de segundo mundo, com relações diferenciadas das comemorações impostas pela Igreja e pelo Estado (BAKHTIN, 2002). Hoje o Carnaval continua a sofrer deslocamento no calendário oficial, sempre se relacionando com a marcação das festas religiosas da Igreja católica. O homem religioso conhece duas sortes de tempo: profano e sagrado. Uma duração evanescente- e uma “sequência de eternidades”, recuperáveis periodicamente durante as festas que constituem o calendário sagrado. O Tempo litúrgico do calendário desenrola-se em círculo fechado; é o Tempo cósmico do Ano, santificado pelas “obras dos Deuses”. (ELIADE, 1992, p.116).
Assim o Carnaval desloca-se no calendário, dependendo da data do domingo de Páscoa. Este é sempre comemorado na primeira Lua Cheia da primavera do hemisfério norte, outono para nós. São contados 40 dias para trás, a partir do sábado anterior ao domingo de Ramos para que se tenha a quarta-feira de Cinzas. Localiza-se, então, entre as festas da tradição religiosa do nascimento de Cristo, o Natal, e sua paixão, morte e ressurreição, a Semana Santa. “O calendário sacro repete anualmente as mesmas festas, quer dizer, a comemoração dos mesmos acontecimentos míticos” (ELIADE, 1992, p. 118). Embora esteja atrelado ao calendário sagrado religioso, o Carnaval configura-se como um período de quebra da ordem, período de transição, repleto de irreverências e inversões, marcando a flecha do tempo. Esse tempo festivo se destaca no calendário das comemorações anuais pelo dinamismo e variedade de formas, intenso intercâmbio cultural que envolve influências mútuas como ajuda, rivalidade, afinidades e adaptações (CAVALCANTI, 2004). É, sobretudo, a festa da alma: do corpo que se espiritualiza e do espírito que encarna, sendo vivida de forma inconfundível, eterna, renovada, Capítulo 1- Lugares e Tradições
71
única e coletiva. “Antes de tudo o carnaval é conhecimento intransitivo” (FRANÇA, 2004, p.35). A pândega carnavalesca possibilita a liberdade do corpo, as danças, o mascaramento. Então nas ruas, praças, palcos, [...] “o corpo inventa ou reanima uma linguagem” (DUVIGNAUD, 1983, p. 90). Para mim o Carnaval é possibilidade múltipla; é encruzilhada com muitas vias; é caleidoscópio de estéticas diversas; é transcendente e sinestésica, semiótica e multicultural. O Carnaval é uma festa dos excessos. A Lua Nova do período carnavalesco possibilita a escuridão do céu noturno, que, segundo a sabedoria popular, propicia o encobrimento dos exageros da festa, aos olhos dos deuses. Como assinala Maffesoli, o excesso é uma forma de gozo e “idêntico às bolhas do champanhe, o gozo é o indício mais seguro deste borbulhar, desta efervescência que é a vida.” (2003, p. 88). Acredito que a festa possa ser comparada a uma semente fecundada sob o húmus do plural e do diferente, participando de uma porção mágica da vida, transformada em eternidade. O Carnaval não se incomoda com os riscos do inesperado: os abusos e imprevistos fazem parte de sua linguagem. Nele há um diálogo constante com a desordem e com o ilógico, tão necessários à natureza humana. Como destaca Nietzsche: somente seres por demais ingênuos podem acreditar que a natureza humana poderia ser transformada numa natureza lógica; mas se houvesse graus de aproximação para esse objetivo, quantas perdas não se sofreria por esse caminho! Até o homem mais racional necessita, de vez em quando, retornar à natureza, isto é, à sua relação fundamental ilógica com todas as coisas. (NIETZSCHE, 2006, p. 55).
O Carnaval é viscoso. Uma apologia à proximidade, ao contato corporal; um rompimento de condutas assépticas e domesticadas; a aproximação do erótico pelo culto ao corpo; uma teatralidade e espetacularização conjunta; o hedonismo pela liberdade; uma acentuação dos sentidos e do imaginário; uma explosão de vida numa gestação de poucos dias; um jogo coletivo, sexual e orgiástico. Nesse tempo, curto e intenso, os afetos, os sentimentos e as emoções tudo permitem, numa exibição total e irremediável. Aí, o imaginário Capítulo 1- Lugares e Tradições
72
humano cria força e asas: movimento que toma vôo. (Fig. 01) O Carnaval é orgia. É momento em que não há pudor em se desnudar a alma e dar chance ao espírito de viver o devaneio dos sonhos. É celebração de paixões do hedonismo e do mistério. Daí a importância primordial das máscaras, que viabilizam a transmutação de antigas faces. A festa carnavalesca liga cada um dos participantes à alteridade em geral: ser diferente é como um elo que envolve (Dig.01). O Brasil é o país do Carnaval. Aqui a festa é comemorada com intensidade e sua introdução se deu a partir da dominação luzitana, já no século XVI. O Entrudo, presente nos primeiros anos da colonização era uma comemoração vivida nas ruas, que ocorria com a participação coletiva, marcado pela presença de negros e mestiços, escravos e, população menos abastada, aglutinando indivíduos de diversos níveis sociais. “Originado do latim - introitus -, o entrudo consistia em três dias de festas que antecediam ao período litúrgico da quaresma, com início da quarta-feira de Cinzas, conhecido documentadamente na Península Ibérica desde o Século XIII” (SILVA, 1990, p.XI). Na festa de rua, o mela-mela se expandia pelos logradouros e praças públicas usando-se água, farinha, goma, perfumes e até outros materiais não recomendáveis, como lama e urina, para o descontentamento de muitos. Nos espaços privados, a influência francesa era percebida nos bailes de máscaras, onde a classe nobre e burguesa exibia suas requintadas fantasias (GASPAR, 2011). Entre os Estados brasileiros, Pernambuco sempre teve uma tradição de belos Carnavais. A festa pernambucana é o que é porque teve sua força e importância em tempos remotos: uma tradição perene e mutável. A tradição tem a similaridade de uma larva incandescente, que se movimenta traçando marcas profundas pelos caminhos que percorre. Construída por pequenos filetes de água que trazem em sua trajetória as possibilidades de adaptações e apropriações, a tradição é um instrumento transformador, e suas expressões devem ser contextualizadas política, social e esteticamente, dando a ver a existência de uma narrativa na qual estão imersos obras, modos de ser e fazer, de forma a superar o abismo que separa a representação dos grupos da tradição e sua realidade. (AMORIM; NOGUEIRA; COSTA, 2010, p. 132). Capítulo 1- Lugares e Tradições
73
A tradição é um tecido vivo, cuja existência só é possível através
dos
acontecimentos,
ações,
interações,
retroações,
determinações e acasos (MORIN, 2007). Os saberes e fazeres da tradição, longe de serem como um lago de superfície tranquila, cuja geografia é formatada a partir de um traçado rígido são, como singelas correntes, dinâmicas, humanizadas, circunstancializadas, fruto da razão histórica (DURAND, 2001). A tradição revela os primórdios da brincadeira de rua na capital pernambucana e, “nos anos quarenta do século XIX surgem as primeiras tentativas da substituição do entrudo pelo Carnaval, bem à moda de Veneza e Nice, com o aparecimento dos bailes de máscaras”. marcando “[...] a ordem, a decência, o regozijo e o bom gosto.” (SILVA, 1990, p.XIV)”. Os registros escritos e a memória dos que hoje ainda recordam os Carnavais antigos desenham a beleza dos Pierrôs, dos Arlequins, dos Palhaços, das Colombinas, que percorriam as ruelas do bairro do Recife, de Santo Antônio, São José e Boa Vista. Folia de Reis e Rainhas, de carros alegóricos, de bailes coloridos por confetes e serpentinas, [1] Os lança-perfumes eram bisnagas de metal ou vidro que continham éter perfumado; as limas eram feitas de cera e guardavam água de cheiro; os jetons, caramelos embrulhados por papéis coloridos; os filhoses, bolinhos fritos de farinha de trigo, adocicados com calda de açúcar.
perfumados por lanças-perfume e limas de cheiro e adocicados por jetons e filhoses1: armas encantadas usadas nessa batalha de alegria. Carnaval irreverente do corso, do mela-mela, da brincadeira libertária de rua, tendo uma sonoridade diversa como fundo musical: sons de frevos rasgados, arrasta-povo que levava multidões pelas avenidas que entrecortavam a cidade. Troças multicores chamando o povo às ruas. Maracatus nação com a força da herança negra. Ursos libertinos assustando a meninada. Caboclinhos coreografando melodias indígenas. Agremiações e Blocos que cantavam o amor e a saudade com todo o lirismo. Escolas de Samba desfilando em frente às comissões julgadoras dos Concursos, cercados pela multiplicidade de olhares curiosos dos assistentes.
[2] Baco, deus do vinho e da embriagues. Relativo a Dionísio na mitologia grega.
Katarina Real (1990) fala do Carnaval do Recife, que, segundo ela, era uma festa que faria inveja ao próprio deus Baco2. E assim as dicotomias público/privado, pobre/rico, sujo/limpo, dia/noite, Capítulo 1- Lugares e Tradições
74
refletiam-se também no reinado de Momo: em todos os recantos “os acontecimentos festivos desenvolviam-se em dois espaços da cidade, física e socialmente distintos entre si [...]” (ARAÚJO, 1996, p.230). As décadas caminharam seguindo a linha tortuosa do tempo e as
manifestações
presentes
no
tempo-espaço
do
Carnaval
multiplicaram-se e ampliaram sua abrangência. Do litoral ao sertão a diversidade de brincadeiras foi fruto do cruzamento fértil entre as culturas negra, indígena e ibérica: miscigenação que é essência do povo brasileiro. Maracatus rurais, de baque solto, repleto de personagens, com seus Caboclos de lança percorrendo canaviais barrentos, com suas golas bordadas e seus barulhentos chocalhos. Afoxés, Bois, Cambindas, Cavalos-marinhos, Bonecos gigantes, arrastando grupos de foliões. Na festa profana os participantes de muitas agremiações culturais têm uma ligação com as práticas religiosas afrodescendentes em especial o Candomblé, a Umbanda e a Jurema que evocam a proteção de divindades e entidades, antes de sairem nas ruas. E o Carnaval continua tomando corpo e forma. Em todos os cantos e recantos do Estado pode-se hoje presenciar e participar da brincadeira espontânea ou assistir às apresentações nos palcos erguidos em locais estratégicos para o desfile das diversas manifestações culturais: é a espetacularização da festa. Fantasias, alegorias, adereços, estandartes e máscaras. Máscaras que marcam [3] Com o reconhecimento desse coletivo a lista dos nãohumanos que tomam parte das ações se amplia. “As coisas não ameaçam os sujeitos. A construção social não enfraquece mais os objetos” (LATOUR, 2004, p.149). As máscaras podem ser um bom exemplo dessa dinâmica em que nãohumanos formam o coletivo com os humanos: todos são atores em ação na preparação e execução dos folguedos.
presença. Máscaras feias que assustam. Máscaras belas que chamam à atenção. Palhaços, Ursos, Papangus, Caretas, Tabaqueiros, Mateus, Catirinas, Caiporas, Zé Pereiras e tantos outros a percorrerem ladeiras, ruas, praças, palcos, espalhando medo, alegria: emoção mascarada. A
festa
carnavalesca
oportuniza
a
convivência,
o
fortalecimento dos laços de parentesco, de vizinhança, de alianças: as associações. Para compreender a dinâmica do Carnaval foi essencial reconhecer que humanos e não-humanos contavam suas histórias: admitir que todos e cada um deles era importante, indispensável e insubstituível para a formação de um coletivo3 (LATOUR, 2012). Observei, assim, que o conjunto festivo acionava os sentidos e Capítulo 1- Lugares e Tradições
75
possibilitava a construção de um cortejo simbólico, extravagante, revigorante, regado pela criatividade e improviso, embebido em uma tradição perene e mutável, marcada por um sentido coletivo e partilhado. 1.2.2 Bezerros: o Carnaval que se Amplia Quem chega hoje à Bezerros em um domingo de Carnaval, em pleno desfile dos Papangus, não consegue imaginar que nos tempos de outrora, início do século XX, a população local brincava nas ruas da cidade dentro de uma dimensão doméstica: envolvimento apenas de moradores e amigos mais próximos. O jornal A Época, em 1928, já trazia uma convocação para os foliões bezerrenses, destacando o uso do lança-perfume e da cachaça, para animar a festa. [...] “Vamos, [4] Jornal A Época, edição no 20 (apud SOUTO MAIOR, 2010, p.38).
foliões bezerrenses! Sahi dessa apathia, desta modorna, e vinde à rua, sob a embriaguez do Ether e... da „branquinha‟ fazer valer as nossas prerrogativas do povo alegre e risonho que se não deixa entibiar”4. Os Blocos de rua, como o Cana-Verde e o Cana Velha que disputavam a preferência dos foliões, juntavam-se às Cambindas, aos Bois de Zé Preá e Manuel Xuxu, à Boneca Gregória e aos Maracatus. No corso, o desfile de automóveis pelas principais ruas da cidade, formando um animado conjunto, acompanhado pelo jogo de cor e cheiro do confete, serpentina e lança perfume. Dentre os Clubes tradicionais destacavam-se o Club Sportivo Vassourinha, o Clube Carnavalesco Democrático e o Centro Literário Rui Barbosa, existente até hoje (SOUTO MAIOR, 2010). O mestre Lula Vassoureiro recorda os antigos Carnavais e o trabalho de seu pai na cultura local.
[5] Mestre na Arte das máscaras em Bezerros, Lula Vassoureiro tem com o reconhecimento de seu trabalho na construção e preservação da cultura local.
Meu pai idealizou os Caboclinhos. Depois idealizou o jacaré. Que era Troça, não era Bloco. Tudo era Troça. O Bola de Ouro, o Cana Verde. Meu pai fazia tudo. Meu pai fazia uma coisa e jogava prá outro. Quando ele não tinha mais o que fazer, inventou o Bumba-meu-boi. Era tão rico que não era com ele só, era com três. Depois ele idealizou a briga dos Bois. Depois a briga dos Bois, a briga das Burrinhas, a briga das Catirina, a briga dos Mateus. Os mascarados toda a vida saiu. (mestre Lula Vassoureiro5).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
76
Por volta de 1905, nos sítios nas redondezas do centro da cidade, figuras maltrapilhas, enfeitadas com folhas de bananeira, circulavam com suas máscaras feitas de papel de embrulhar charque, assustando a meninada. “Os Papangus antigamente saíam dos bairros, [6] Brincante, carnavalesco, artesãoartista e diretor de turismo e educação de Bezerros. Incentivador da cultura bezerrense.
de todo bairro saía Papangu, todo mundo saía e eles terminavam entrando nesses blocos e faziam a festa” (Robeval Lima6). Desde
então
esses
personagens
ganharam
força
e
representatividade, passando por diversas mudanças estéticas e simbólicas ao longo de cada Carnaval. Os antigos Papa-angus de
[7] Vide Capítulo 02
outrora começaram a ser reconhecidos como Papangus7, representantes da Cultura de Bezerros. Hoje a dimensão da festa carnavalesca no município ultrapassa qualquer poder de imaginação. No domingo que antecede o Carnaval, o Acorda Bezerros sai às ruas, despertando o povo para o período de folia. O Carnaval do Papangu J. Borges No Domingo oito dias antes do Zé Pereira sai o Acorda Bezerros a vibração faz poeira arrasta o povo da cama pra pular na bagaceira.
O domingo após o sábado de Zé Pereira é o dia marcado pelo cronograma oficial para o desfile e Concurso do Papangu. Quem nunca viu deve ver e quem já viu nunca esquecerá. Foi esse o sentimento que tive e que me acompanha até hoje: a lembrança do primeiro Carnaval em Bezerros. Lembro-me de cada detalhe daquele domingo, em 2010. Às 09h30min da manhã, sob a energia de um forte sol, iniciei meu percurso pelas as ruas da cidade, observando os mascarados que naquele horário já circulavam alegremente. Sozinhos, em duplas, em bando, acenavam para as pessoas e carros que passavam. Notei que alguns moradores faziam tentativas para descobrir a identidade dos brincantes. Com máscaras em diversos materiais e fantasias de brilhos
Capítulo 1- Lugares e Tradições
77
e cores marcantes, percorriam as ladeiras, em direção à Praça São Sebastião. Segui na mesma direção, nas ruas enladeiradas da cidade, em busca da concentração dos mascarados. Próximo à Igreja de São Sebastião, o som da multidão indicava que ali sairia o Bloco dos Papangus. Uma grande estrutura mostrava a preocupação institucional com a dimensão da festa: policiamento ostensivo, banheiros-químicos para apoio aos brincantes; grandes palanques montados em locais estratégicos. Os turistas que freneticamente cercavam os mascarados registravam, com máquinas fotográficas e filmadoras, a magia daquele momento.
Os
incessantemente:
brincantes
se
exibiam-se,
mostravam
e
se
amostravam
pavoneavam-se,
pousavam
incansavelmente para as fotos e filmagens. Vestidos com fantasias idênticas grupos de mascarados se aproximavam das emissoras de televisão e entoavam cantigas ensaiadas. Individualmente e silenciosos alguns mascarados faziam suas performances. Era um verdadeiro desfile de criatividade e exuberância. Havia ali uma encantadora diversidade de personagens. Individualmente ou em grupo, as máscaras indicavam uma [8] Vide Capítulo 05.
temática própria que as caracterizasse e que chamasse a atenção dos moradores e visitantes. Muitas delas lembravam a estética da Commedia dell'arte8, do Carnaval italiano: alguns tinham um acabamento perfeito, com detalhes em dourado, formando um belo conjunto com as fantasias acetinadas e detalhados adereços de mão. Logo percebi que estava cercada por exemplos de criatividade e diversidade. Ao meu lado seguia São Jorge segurando a cabeça do dragão. À minha volta um grupo de Estrelas cadentes com roupas de cetim amarelo ouro. Mais adiante, um conjunto de Fadas coloridas com longos chapéus de ponta. E assim a magia ia ditando o tom da festa (Dig.02 a 04). O tempo passava e o sol esquentava. Ampliando essa energia, a multidão de mascarados e observadores crescia rapidamente. Muitas crianças vestiam kaftas de chitão florido e máscaras emborrachadas. Grupos de Mexicanos com violas à mão. Fantasias feitas de material reciclado. A diversidade daquele conjunto de mascarados indicava que Capítulo 1- Lugares e Tradições
78
não havia ali um padrão a ser seguido. Tudo era possível dentro do contexto da festa carnavalesca. Pude observar que em alguns exemplos o gênero era percebido e até acentuado na elaboração da indumentária. Outros grupos de brincantes pareciam ter por objetivo uma similaridade extrema, anônima e assexuada (Dig. 05). Acredito que o que ditava o caminho para a confecção das máscaras e fantasias eram a disponibilidade e os interesses múltiplos: alguns se cobriam com roupas de chita, muito simples e máscaras coloridas, artesanais ou industrializadas; outros desfilavam com fantasias exuberantes, marcadas pela riqueza de detalhes e que certamente exigiram um grande investimento monetário e temporal; muitos demonstravam a irreverência e criatividade na escolha da temática exibida. O Bloco dos Papangus iniciou o desfile, acompanhado pela [9] Bezerrense, renomado artista plástico, brincante atuante, sempre lutou pela divulgação e incentivo da cultura local; falecido em outubro de 2009.
orquestra que entoava conhecidas músicas carnavalescas. Naquele ano o homenageado pela Secretaria de Turismo e Cultura foi Sivonaldo Araújo9. O Bloco trazia uma comissão de frente que usava máscaras semelhantes às confeccionadas pelo artista e exibia esculturas dos Papangus que faziam alusão às elaboradas por ele (Dig.06). Ao longo das ladeirosas ruas, residências e bares com suas varandas decoradas viraram camarotes para os moradores e visitantes que também se enfeitaram para a festa: exalavam cor, alegria e brilho. Os edifícios compactuavam com aquele movimento festivo, comprovando que “[...] a arquitetura, ou a casa não é um cenário passivo que assiste ao desenrolar das nossas vidas e o enquadra, mas é co-autora de todas as possíveis experiências vividas ou narráveis” (AMORIM, 2007, p. 89). Toda a magnitude da dimensão da festa mostra-se naquele conjunto alegórico de múltiplas faces e assim, de forma plena, sujeitos e objetos viviam a magia do Carnaval de Bezerros. O Carnaval do Papangu J. Borges Vou falar no Carnaval que tem em minha cidade cada ano que se passa aumenta a festividade Capítulo 1- Lugares e Tradições
79
porque a fama se espalha em toda localidade Vem gente de toda parte de São Paulo e Caxambú vem do Rio de Janeiro de Recife e Cumaru pra ver e se divertir no Carnaval do Papangu.
Uma parte daqueles brincantes seguia alegremente nas ruas para participar do Concurso institucional, que naquele dia premiaria os mais belos e criativos Papangus: exibiam um pequeno adesivo com um número de inscrição e o título de sua fantasia. Outros já tinham como recompensa a participação na pândega carnavalesca. Com o passar das horas as ruas ficaram pequenas para centenas de foliões que lotavam caminhos e calçadas. Os palanques armados
pela
Prefeitura
em
pontos
estratégicos
ficaram
completamente preenchidos por uma massa colorida de assistentes que aplaudiam o desfile dos mascarados (Fig.02). Confesso que fui tomada pela surpresa ao presenciar a dimensão da tão propagada Folia dos Papangus, pois não podia imaginar que tantos brincantes, turistas, profissionais das emissoras de televisão e de empresas de mídia impressa, policiais e comerciantes se agrupassem formando tão grande e alegre multidão barulhenta. Presenciei ali a riqueza do universo das máscaras, vivas: novos-sujeitos que brincavam nas ruas e praças. Quem participa de um evento com as dimensões do Carnaval de Bezerros não consegue se livrar das marcas de sua grandiosidade, tatuagens ornadas pelas imagens da festa dionisíaca. Aquele primeiro contato foi imprescindível para atiçar a minha curiosidade e o meu desejo de conhecer mais e mais sobre a história da brincadeira dos Papangus de Bezerros e, de forma específica, a vida das máscaras da cidade do agreste pernambucano. 1.2.3 Afogados da Ingazeira: Carnaval em Movimento O Carnaval é uma festa que marca a memória e deixa saudades. Ao caminhar pelas ruas de Afogados da Ingazeira e Capítulo 1- Lugares e Tradições
80
conversar sobre os Carnavais do passado com moradores mais velhos, pude registrar o quanto as lembranças da festa vivida há décadas estavam ainda pulsantes e submersas em um fluido de emoção. “O Carnaval, quando eu era criança, era melhor do que o de hoje. Durante o dia brincava todo mundo, havia uma melação de massa branca e à [10] O Sr. Gastão é comerciante e escritor, autor de livros que contam a história de Afogados da Ingazeira e sua gente. Com 90 anos causava inveja pela sua memória e lucidez.
noite todo mundo tomava banho e ia dançar. Havia dança quase toda a semana” (Gastão Cerquinha10). Os moradores recordam-se do mela-mela que ocorria livremente nas ruas da cidade nas primeiras décadas do século passado. Crianças e adultos entravam na brincadeira, alegrando-se com a pândega irreverente.
[11] Jaime Bezerra Santana, 76 anos, morador, conhecido como Jaime de Hortêncio, seu pai, ou Jaime de Rosilda, sua esposa. Essa é uma forma tradicional nas cidades do interior de se fazer referência ao parentesco.
O Carnaval era uma loucura. O Carnaval não é uma festa, é uma doidice... Aí eu era novinho e caía dentro. Quando eu era moço tinha namorada à vontade. Aí, quando era de dia ficava solto aí na cidade, no tal do mela-mela. Quando era noite ia pro Clube. Então eu ia pro Clube, dançava, bebia, pulava a noite inteira, até quando chegava quatro horas da manhã que se acabava a festa, né? Vinha prá casa dormir um restinho de sono que tinha, quando era mais tarde tava na rua de novo. No mela-mela... é, bebendo cachaça e... tinha os colegas. Eu tinha 20 anos, tinha 18. (Jaime de Hortêncio11).
No domingo pela manhã o corso formava-se pelo centro da cidade, com carros lotados pelas famílias e instrumentos musicais que animavam o cortejo. Muitas vezes o desfile seguia até as cidades vizinhas de Carnaíba e Tabira, voltando com um número maior de moradores desses municípios, em seus automóveis, em marcha lenta. Na terça-feira, como despedida do Carnaval, o desfile se repetia,
[12] Já nos anos 90 o ACAI transformou-se em um edifício abandonado, abrigo para drogrados e ponto e prostituição. Em função da construção do anel viário o Clube foi demolido em outubro de 2008 (PIRES, 2004).
animando toda a região (PIRES, 2004). Com a inauguração do ACAI, Aeroclube de Afogados da Ingazeira12, nos anos 50, os bailes noturnos congregavam as famílias afogadenses nas quatro noites carnavalescas, ao som da Orquestra de Frevo Pajeú. Embora o Carnaval possa ser percebido como uma festa popular, um tempo em que as hieraquias sociais são minimizadas, pude notar, a partir de alguns depoimentos, a marca das diferenças presentes na festa carnavalesca do passado afogadense. Então havia outros blocos da pessoa mais pobre que era muito mais animado. Eles saíam de bandeira na rua e Capítulo 1- Lugares e Tradições
81
naquele passeio que eles faziam pela rua, nos três dias, saíam com a bandeira quando voltava, voltava cheia de dinheiro. Todo mundo dava dinheiro a eles. A classe mais pobre, entendeu? O pessoal dava o dinheiro e eles botavam com alfinete, uma coisa lá agarrada, quando vinha, vinha cheio de dinheiro. Voltava prá casa, ou voltava prá sede, cheia de dinheiro. Era bloco de gente pobre. E tinha também o bloco de uma pessoa mais elevada. Havia um blocozinho também. Mas era mais brincadeira, durante a manhã. [...] Eu tinha idade de 12 anos. (Gastão Cerquinha).
Como presenciamos ainda hoje em todos nos Carnavais de variados recantos do país, cada um brincava à sua maneira, dentro da suas possibilidades financeiras e espaciais, usando a liberdade e a criatividade próprias do tempo carnavalesco: o importante era festejar. Nesse sentido, já havia a presença dos mascarados nas estradas dos [13] Essa questão será melhor explicitada no Capítulo 02. [14] O relho, chamada no interior de reio, é o chicote utilizado pelos brincantes, originário dos chicotes usados pelos tangedores de burro (LOPES, 2003).
sítios circunvizinhos e no centro da cidade. Hoje conhecidos como Tabaqueiros, eram chamados, no início da brincadeira centenária, de Papangus13. Escondiam sua verdadeira identidade e andavam com os reios14 em punho, independente de classe social, cor, credo, ideologia, sexo, idade: com as máscaras, eram apenas os Papangus de Afogados da Ingazeira. O tempo passou e com ele vieram as mudanças, as adaptações, o movimento que atingiu no Carnaval afogadense: os brincantes, a cidade, as máscaras. “O tempo não é um panorama geral, mas antes o resultado provisório da ligação entre seres.” (LATOUR, 2009, p. 74). Para o autor, é justamente a ligação entre esses seres, indivíduos e objetos, que o constituem. Durante a pesquisa de campo, percorrendo as ruas de Afogados da Ingazeira nos Carnavais de 2010 a 2013, presenciei a formação de numerosos grupos vestidos com as coloridas camisas dos blocos que dominavam a cidade, acompanhados pelos trios elétricos que arrastavam centenas de foliões. Nesse período o comércio agitavase e, ao longo de ruas e praças, proporcionava animados encontros regados pela culinária local e profusão de bebidas etílicas. Tive, naqueles preciosos momentos de observação da festa, o prazer de estar ao lado dos Tabaqueiros que corriam pela cidade em grupos, com seus barulhentos chocalhos anunciando sua marcante presença. Capítulo 1- Lugares e Tradições
82
No Carnaval de 2010 acompanhei, pela primeira vez, os brincantes nas ruas, naquela manhã ensolarada de segunda-feira. Seguindo logo cedo para o centro da cidade, registrei a presença de crianças brincando nas ruas, estalando os chicotes: um treino para o duelo com os reios, que fazia parte da brincadeira (Dig. 07). Na Praça da Matriz, os pequeninos e jovens mascarados brilhavam com suas roupas de cetim, seguindo para todos os lados do centro. Naquele espaço arborizado um Lobo mau se aproximou com sua máscara emborrachada e logo pedi para fotografá-lo. Outros Tabaqueiros chegavam ao local e pude notar que um maior número de máscaras era industrializado, predominando as emborrachadas (Fig. 03). Os Tabaqueiros apressadamente cruzavam as ruas, entravam nas lojas, interrompiam os transeuntes para pedir, com uma voz em falsete, “uma moedinha para o Tabaqueiro”. Aquele era um disfarce proposital, para manter o anonimato. Estalavam os relhos, exibiam os cintos repletos de chocalhos e corriam muito, espalhando uma sonoridade ritmada pelos caminhos que seguiam (Dig. 08). Fiquei impressionada com a quantidade de chocalhos dependurados nos cintos, cujo conjunto formava uma grave e estridente musicalidade, que invadia a cidade. Aquele era realmente um elemento de destaque na indumentária dos Tabaqueiros. Embora os chocalhos fossem usados em outros folguedos pernambucanos, como nos Caretas de Triunfo e nos Caboclos de Lança do Maracatu rural, nenhum desses apresentava a abundância das rústicas sinetas, como os mascarados afogadenses (Fig.04). Os Tabaqueiros dominaram minha atenção e eu, provavelmente, também despertei a curiosidade dos brincantes, com minha máquina fotográfica, caderno de campo e ar de quem está fazendo uma reportagem. Por que não dizer que ali havia um estranhamento mútuo, no qual pesquisador e brincantes tentavam se conhecer e desvendar os mistérios do outro? Diferentemente de Bezerros, não havia assédio de turistas nem das emissoras de televisão: apenas os moradores que chegavam às janelas e portas para ver os barulhentos mascarados, já conhecidos. Capítulo 1- Lugares e Tradições
83
Com o passar das horas a temperatura aumentou e com ela o número de brincantes na sertaneja cidade. Ampliava-se também a minha ansiedade em saber mais sobre a tradicional brincadeira. Naquela manhã conversei com moradores e cheguei a entrevistar alguns mascarados que, cansados do corre-corre pelas ruas, sentavam nas calçadas para retomar as forças (Dig.09 e 10). A partir dali, tanto os registros escritos, quanto o campo vivenciado nos anos de pesquisa, me indicaram que passado e presente estavam unidos naquele lugar, revelando uma história vivida, revitalizada, esquecida, recriada incessantemente a cada Carnaval. De forma emblemática, a união entre esses dois pólos, ontem e hoje, apresentava-se nitidamente na figura dos Tabaqueiros que percorriam as ruas de Afogados da Ingazeira, sob um sol forte e um céu imensamente azul, ou, à noite, sob o céu escuro, repleto de estrelas curiosas, como eu.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
84
[Fig 01] No Carnaval, o imaginário toma vôo. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 02] Folia dos Papangus: uma festa inesquecível. (Acervo Júlio Pontes).
Capítulo 01- Lugares e Tradições
85
[Fig. 03] Lobo mau Tabaqueiro. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 04] Os Chocalhos são um diferencial dos mascarados afogadenses. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 01- Lugares e Tradições
86
Nas narrativas míticas cada divindade tem características próprias e marcantes: desempenham papéis, têm funções determinadas, possuem características particulares, desfrutam de atributos. Da mesma forma, cada lugar descrito nos mitos revela-se, ao ser percorrido, ocupado, vivido. Observa-se que em alguns momentos esses seres e lugares imaginários são possuidores de elementos que ressaltam sua imortalidade e grandeza; em outros, apresentam-se com atributos tão humanos e terrenos que ao falar deles parece que estamos descrevendo a nós mesmos, pobres mortais que vivenciamos o cotidiano terreno, em qualquer lugar do planeta. Nas narrativas mitológicas os deuses nascem, lutam, sofrem, amam e até morrem. Zeus era reconhecido por sua força divina. Com a ajuda de armas potentes, o trovão, o raio e o relâmpago, apresentava-se como o deus do céu tempestuoso. Poseidon, seu irmão mais velho, podia abalar os oceanos com seu tridente mágico, causando maremotos e terremotos. Hades, outro irmão do deus supremo, possuía o poder dos mundos invisíveis, dominando as almas dos mortos nas profundezas da terra. A bela deusa Afrodite destacava-se por representar o amor, despertando o desejo no coração dos deuses. Apolo, um dos tantos filhos de Zeus, era reconhecido como o deus da luz, das artes, da medicina e da música. Ártemis, filha de Apolo, desempenhava a função de protetora das parturientes, percorrendo os bosques em companhia de feras e Ninfas. Hefesto, o deus coxo, dominava a arte do fogo e do trabalho com os metais. Esses e tantos outros deuses, com seus codinomes, reinavam em lugares com características únicas: identidades construídas no universo mitológico. (AQUINO 2007, GRIMAL, 2009). Capítulo 1- Lugares e Tradições
87
1.3 Ser e Estar: Identidades Plurais Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. (HALL, 2006, p.38).
O termo identidade é usado em muitos campos de conhecimento sendo um valoroso conceito para os estudos voltados à Filosofia, Psicologia, Sociologia e Antropologia, dentre outros. Embora o uso desta palavra seja tão comum e corriqueiro, não se trata de um termo com significado estrito, que comporte uma simples e única definição: o amplo emprego do termo dificulta sua precisão conceitual.
Assim,
sua
compreensão
exige
questionamentos,
comparações e relações com outras noções, indispensáveis ao entendimento do universo que a envolve. Pensar em identidade remete as questões acerca da natureza dos homens e das coisas e das diferenças e semelhanças deles em relação a outros elementos. Corriqueiramente a identidade pessoal é compreendida como algo inerente a cada indivíduo, elemento que o torna único. Nesta perspectiva, as pessoas se diferem por traços sociodemográficos distintivos, como idade, sexo, naturalidade e filiação. Esses fatores podem servir para acionar características que trazem similitudes em relação a outros indivíduos, agrupando-os pela semelhança de classe, profissão, religião ou etnia (HOFFNAGEL, 2010). A identidade particular remete ao entendimento sobre quem somos, nossas características fundamentais, nossa auto-percepção, escolhas e formas de vida. “A identidade pessoal define-se antes de tudo, em referência aos ancestrais e aos pais; [...] Mais amplamente, definimo-nos em referência à nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nossa religião” (MORIN, 2007, p. 86). A identidade pode envolver reivindicações ditas essencialistas, sobre quem pertence ou não a determinado grupo, cujas identidades são percebidas como fixas e imutáveis. São reivindicações baseadas na natureza, como exemplos de identidades étnicas, de raça, de relações de parentesco, ou versões baseadas em uma história ou um passado imutável. “Por um lado, a identidade é vista como tendo um núcleo Capítulo 1- Lugares e Tradições
88
essencial que distinguiria um grupo de outro. Por outro, a identidade é vista como o produto de uma intersecção de diferentes componentes, de
discursos
políticos
e
culturais
e
histórias
particulares”
(WOODWARD, 2009, p. 38). A identidade pessoal pode ser ainda compreendida como “[...] o ponto de referência pessoal do sentido da vida e do agir” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 77). Essa identidade começa a ser formada quando o indivíduo, ainda criança, observa o reflexo de seu comportamento na ação das pessoas próximas. O processo de edificação da identidade é algo que se desenvolve a partir da relação com o outro: uma identidade socialmente desenhada. Nas múltiplas sucessões do agir social se constrói a identidade pessoal do indivíduo: primeiro por uma socialização primária que se amplia pela socialização secundária, a qual introduz o indivíduo nos papéis de uma realidade social mais abrangente. Compreendo que os sujeitos ocupam distintas posições dentro do contexto social, que os ajudam a construir e formatar esse profundo e discutido conceito que é identidade. Esta, envolve uma busca de condições sociais sob as quais os humanos podem alcançar uma atitude positiva em relação a si próprios, pela autoconfiança, autorespeito e autoestima e, consequentemente, obter formas de reconhecimento no âmbito comunal (HONNETH, 2003). O homem está envolvido em diversas ações cotidianas, nas quais mantém relações com os companheiros de escola, colegas de trabalho, parceiros de lazer, parentes do ciclo familiar e pessoas estranhas, que em fugidios momentos, compartilham com ele espaços coletivos. Nessa diversidade de contatos e lugares de encontro, as identidades são formatadas, as relações são desenhadas e as comunicações são estabelecidas por meio de múltiplas formas de linguagem. A linguagem, seja oral, escrita ou gestual, aproxima ou afasta as pessoas e com isso cria ou rompe fronteiras; tem a função de identificação dos indivíduos com os grupos e favorece a construção identitária individual ou coletiva, transmitindo sentimentos e emoções. “Essas identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos Capítulo 1- Lugares e Tradições
89
sistemas
simbólicos
pelos
quais
elas
são
representadas”
(WOODWARD, 2009, p.08). Os traços linguísticos podem indexar significados sociais e, consequentemente, constituir significados de identidades (HOFFNAGEL, 2010). É importante destacar que a identidade é relacional e a [1] “A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído. É por meio da diferenciação social que essas classificações são „vividas‟ nas relações sociais” (WOODWARD, 2009, p. 14).
diferença é estabelecida por uma marcação simbólica1 relativamente a outras identidades; é também social e material. Ambos os aspectos, social e simbólico, são necessários à construção e a manutenção das identidades (WOODWARD, 2009). A cultura, de uma forma geral, encontra-se envolta na problemática das questões identitárias. A imbricação da identidade na cultura não tira o poder analítico de cada um desses conceitos de maneira a podermos recorrer a cada um deles (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006). Concentrando um duplo universo, a cultura abrange um capital cognitivo e técnico, envolvendo práticas, saberes, regras, savoir-faire e um capital mitológico e ritual, abrangendo crenças, valores, interdições e normas. Todo esse patrimônio de memória e organização é transmitido entre indivíduos e gerações, num processo de troca e adaptações. Nesse movimento, a identidade cultural de cada povo, de cada comunidade, de cada grupo, de cada lugar, é ao mesmo tempo fechada e aberta, preservando determinados valores e renovando-se constantemente. “A cultura constitui a herança social do ser humano; as culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais específico” (MORIN, 2007, p.64). No circuito da cultura o foco se desloca dos chamados sistemas de representação para as identidades por eles produzidas. “A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos” (WOODWARD, 2009, p. 17). A representação, como um processo cultural, estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia ajudam-nos a responder quem somos, quem poderíamos ou quem gostaríamos de ser. A cultura nos oferece um leque de possíveis identidades que podem ser edificadas a partir das representações Capítulo 1- Lugares e Tradições
90
simbólicas e das relações sociais que nos cercam. As identidades culturais envolvem aspectos que surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, nacionais, linguísticos e religiosos (HALL, 2006). Destaco que todas essas questões que abrangem o universo identitário não estão restritas ao indivíduo e aos grupos. Os lugares também são um rico campo investigatório para este estudo, agregando a ele importantes elementos. Neste sentido, pertencimento, alteridade, reconhecimento, inclusão e exclusão social, similitude e diferença, [2] Nestes termos lugar refere-se aos espaços com diversas dimensões: continente, país, região, cidade.
embasam a dinâmica identitária, tanto em relação aos sujeitos quando aos lugares2 onde desenvolvem suas vidas, num processo individual e comunal. As cidades além de ser reconhecidamente o locus para o encadeamento ou o reforço dos processos identitários estão também envoltas em suas próprias construções de identidade. Interessa-me pensar tanto na questão do indivíduo-brincante, que dentre os diversos papéis desempenhados na dinâmica de sua vida tem, como mascarado, mais uma possibilidade de ser, como também na importância desses personagens para a construção identitária dos lugares.
[3] Refiro-me aqui ao lugar do sujeito como as diversas posições ocupadas pelo indivíduo: na Família, no Trabalho, na Igreja. [4] Acredito que Stuart Hall compartilha com a concepção de pósmodernidade enunciada por Jean-François Lyotard (apud AUGÉ, 1997), momento em que há uma espécie de dissolução de determinados laços sociais e a passagem das coletividades sociais a um estado de uma massa, composta de átomos individuais que se movimentam. O sujeito, não isolado, está preso a uma textura de relações mais complexas e de grande mobilidade.
1.3.1 O Lugar3 do Sujeito: Diversidade de Papéis. Um rosto é um teatro onde atuam múltiplos atores. Uma vida também. Cada um enfrenta descontinuidades pessoais na sua caminhada contínua. [...] Cada um contém a multiplicidade e inúmeras potencialidades mesmo permanecendo um indivíduo sujeito único. (MORIN, 2007, p. 95).
Muitos são os pensadores que apontam para a necessidade de nos aprofundarmos sobre o entendimento da identidade e de compreendermos
o
cosmo
das
construções
identitárias
na
contemporaneidade. Nesse sentido, Stuart Hall (2006) afirma que o conceito de identidade é complexo, pouco desenvolvido e compreendido na ciência social contemporânea: não é algo definitivo. Na realidade atual, dentro do que este autor reconhece como uma concepção pós-moderna4, o sujeito não tem uma identidade fixa, essencial, permanente e assim pode vivenciar identidades múltiplas, Capítulo 1- Lugares e Tradições
91
algumas vezes até contraditórias e mal resolvidas. Tomaz Tadeu da Silva, por sua vez, reitera que “a identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente, “[...] tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. [...] É uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo” (SILVA et al, 2009, p.96). Nessa mesma perspectiva, Zigmunt Bauman argumenta que nos variados campos de atividade da vida atual existe um constante movimento identitário: papéis negociáveis e renováveis que dependem das necessidades individuais e coletivas. Sugere que: [...] a “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; como alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir de zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la [...]. (BAUMAN, 2005, p. 21).
Segundo Manuel Castells, existe hoje a força de uma revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo que introduz uma sociedade organizada em redes, dentro de uma globalidade que penetra em todos os níveis da sociedade. Paralelamente, presenciamos um avanço de expressões de identidade coletiva que tentam desafiar a globalização e o cosmopolitismo, indo à busca da singularidade cultural e do controle do indivíduo sobre suas vidas e sobre o ambiente. Assim, “nosso mundo, e nossa vida, vêm sendo moldados pelas tendências conflitantes da globalização e da identidade” (CASTELLS, 1999, p.17). Preocupado com a diversidade “dos mundos” que se recompõem a cada instante, Marc Augé revela sua visão da contemporaneidade e também o seu entendimento sobre a dinâmica identitária. “Por esses novos mundos passam as relações de sentido (alteridades-identidades instituídas e simbolizadas) cujos cruzamentos, imbricações e rupturas fazem a complexidade da contemporaneidade” (1997, p. 143). Para o autor, cada pessoa está no entrecruzamento de vários mundos e diversas vidas, no âmbito familiar, profissional e no contexto das realizações pessoais. Argumenta que identidade trabalha categorias de exclusão, inclusão ou acumulação, nas quais o indivíduo Capítulo 1- Lugares e Tradições
92
pode ser ao mesmo tempo pai, esposo, vizinho, médico e tantas outras formas de identificar-se. A modernidade trouxe ampliação de opções no campo social e intelectual, no qual o homem tende a afastar-se de determinações antes ditas “fruto do destino” e fazer opções profissionais, relativas à sua formação e educação, confissão religiosa, estilos de vida, hábitos sexuais e preferências partidárias. Tudo isso ajuda a desenhar a sua auto-imagem e identidade. O etos da democracia e as pressões impostas pela economia de mercado ampliam e estimulam cada um a fazer opções, tendo possibilidade de exercitar a escolha, como um direito que lhe é reservado (BERGER; LUCKMANN, 2004). Os elementos originais da identidade servem de suporte à construção identitária individualizada, mas há possibilidade de escolhas, dentro dos repertórios existentes. Com a ampliação dessa fluidez nota-se o aumento da distância entre os papéis tidos como obrigatórios e os papéis apropriados, dando certa sensação de liberdade aos atores sociais (SINGLY, 2006). Bruno Latour questiona algumas categorias usadas nas ciências sociais, dentre elas ao conceito de identidade. Quando caracterizamos um grupo estudado e o colocamos dentro de limites seguros e definidos, corremos o risco de enquadrá-lo, perdendo a riqueza de seu movimento. “No fim, parecerão tão inquestionáveis que serão tomados como coisa certa e não mais produzirão traços, nem fagulhas, nem informações” (LATOUR, 2012, p. 58). Na ANT os atores não têm um papel fixo ou determinado. A ação dos atores é que deve ser valorizada, sendo eles humanos ou não-humanos. Compartilho com a ideia de que identidade e pertencimento não podem ser entendidos, na circunstância atual, como algo homogêneo, estático, definitivo. Seja em relação a um único indivíduo, seja em relação aos lugares, o processo identitário é como um rio que se forma através de muitos movimentos, cursos de águas, dinâmica de correntezas, ação de marés, influências de relevo e caminhos percorridos. Percebo que os indivíduos, como os lugares, passam por múltiplas mudanças que podem ser traduzidas como variações, Capítulo 1- Lugares e Tradições
93
modificações, conversões e até mesmo revoluções que vão moldando essa matéria caracterizada pela plasticidade. Como os seus habitantes, os lugares são marcados por uma história de construções identitárias, que se renovam e se mantêm e com isso incorporam novos elementos ou preservam características emblemáticas (COSTA, 2009). 1.3.2 Os Sujeitos e os Lugares: Sentidos de Pertencimento O homem orgulha-se por ter nascido em um determinado lugar, pertencer a uma família, vivenciar na comunidade o trabalho, sentir a natureza que o cerca, participar das festas e comemorações locais, possuir uma língua nativa e testemunhar as mudanças e permanências existentes na cultura de sua terra. (COSTA, 2009, p.137).
Os lugares - planetas, continentes, países, regiões, estados, cidades, bairros, ruas, instituições, residências - espaços com quaisquer dimensões e complexidade, podem ser imaginados, percebidos, referenciados, identificados. Isso é possível porque a eles são atribuídas características peculiares. São rótulos que lhes constituem um caráter distintivo e lhes indicam particularidades. São propriedades ao mesmo tempo repletas de concretude e simbolismo, que lhes conferem atributos de semelhança ou diferença com outros lugares. São elementos que despertam o sentimento de pertencimento. Dentro deste conjunto, as cidades me parecem particularmente interessantes para pensar sobre a questão identitária. Elas são fruto das interações que se estabelecem entre as pessoas, numa dinâmica relacional de ação comunal. Ao mesmo tempo em que as cidades vão formatando identidades próprias, os fios tecidos nesse processo envolvem os filhos da terra, os habitantes e os visitantes e esses mesmos indivíduos interferem nessa construção, numa dinâmica de troca. Nesse movimento, quanto mais a vida cotidiana se reconstitui em termos de interação dialética entre o local e o global, mais os indivíduos vêem-se forçados a negociar opções em relação aos estilos de vida possíveis (GIDDENS, 2002). Aí, identidades pessoais, grupais e citadinas vão sendo constituídas, negociadas e transformadas. O que pode identificar uma cidade? Cidades santas, cidades prósperas, cidades frias, cidades de amor, cidades de personagens, Capítulo 1- Lugares e Tradições
94
cidades sempre acompanhadas por termos que lhes dão um sentido particular. Essas identidades ajudam a acionar sentimentos nos [5] As comunidades de vida caracterizam-se por um agir que se repete de forma regular e diretamente recíproca em relações sociais duráveis. A forma básica e universal que desencadeia esse sentimento de pertença são as comunidades de vida em que se nasce (BERGER; LUCKMANN, 2004).
moradores e turistas que se orgulham dos lugares onde nasceram, onde residem ou que visitam de forma passageira. A pertença a este ou aquele lugar implica fazer parte de um espaço percebido geograficamente e socialmente, que é reconhecido geralmente, como comunidades de vida5 que pressupõem um mínimo de uma comunhão de sentido6 (BERGER; LUCKMANN, 2004). É importante destacar também que o sentimento em relação à terra natal é algo que aciona uma “solidariedade mística”. É uma experiência na qual “as pessoas
[6] O sentido é uma forma complexa de consciência; não existe em si, mas possui um objeto de referência; é a consciência de que existe uma relação entre as experiências. O indivíduo busca sentido nas coisas, nos atos, na vida, como forma de solucionar seus problemas em relação ao seu ambiente natural e social, em qualquer tempo e lugar (BERGER; LUCKMANN, 2004).
sentem-se gente do lugar, e eis aí um sentimento de estrutura cósmica que ultrapassa em muito a solidariedade familiar e ancestral” (ELIADE, 1992, p. 150). A cidade acolhe, agrupa, envolve e essas sensações são importantes para o homem. Existe uma resistência por parte das pessoas ao processo de individualização e atomização e uma tendência a agrupar-se em organizações comunitárias que geram, ao longo do tempo, um sentimento de pertença e, em muitos casos, uma identidade comunal (CASTELLS, 1999). Reafirmo que o sentimento de pertença a uma determinada comunidade é reversível, flexível, e neste processo de buscas, conquistas, descobertas, os indivíduos não estão presos, engessados, petrificados numa identidade única. Grupos de pertencimento vão sendo inventados, escolhidos, construídos ao longo da existência de cada um, em locais muitas vezes diferentes dos países de origem, podendo ser concebidos nas cidades-natal ou mesmo em regiões com culturas distintas, em outra parte diversa do mundo (Fig. 01; Dig. 01). Levando-se em conta uma abordagem de identidade dentro de uma dimensão relacional existente na contemporaneidade, vê-se a importância de percebê-la a partir do olhar externo, da percepção do outro, dos vários olhares que se cruzam nos múltiplos lugares de encontro espalhados pelas cidades. Desse ponto de vista, os meios urbanos podem ser fatores de encadeamento ou reforço dos processos identitários. A cidade multiplica os encontros de Capítulo 1- Lugares e Tradições
95
indivíduos que trazem consigo seus pertencimentos étnicos, suas origens regionais ou suas redes de relações familiares ou extrafamiliares. Na cidade, mais que em outra parte, desenvolvem-se, na prática, os relacionamentos entre identidades, e na teoria, a dimensão relacional da identidade. (AGIER, 2001, p.09).
As cidades acionam sentimentos de pertencimento, acolhimento, proteção: são locus para o movimento identitário dos indivíduos e grupos,
estando
cingidas
completamente
nas
suas
próprias
composições de identidade. 1.3.3 Identidades Construídas: Cidades dos Mascarados O indivíduo tem a possibilidade de lançar a âncora, bem como levantá-la, ao longo do seu percurso biográfico. Estabilidade e movimento sucedem-se. (SINGLY, 2003).
A sucessão alucinante de eventos atuais permite que falemos não apenas de mudanças, mas de vertigens. O sujeito no passado estava submetido a uma convivência longa e repetitiva com os mesmos objetos, trajetos, imagens, “uma familiaridade que era fruto de uma história própria, da sociedade local e do lugar, onde cada um era ativo” (SANTOS, 1999, p. 262). A mobilidade hoje é uma regra. Os homens - trabalhadores, imigrantes ou turistas - os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias, as informações, as identidades, tudo se movimenta de forma constante e veloz. E essa dinâmica é importante tanto para os filhos da terra, quanto para os visitantes. Eric Hobsbawm (2009) chama a atenção para as mudanças profundas que a globalização provocou na vida das pessoas. Não apenas em relação às inovações tecnológicas, mas também a coisas mais simples, como a mobilidade humana. Hoje um maior número de indivíduos dispõe de suficientes recursos e instrumentos para fazer o que antes estava ao alcance apenas dos mais ricos, como circular pelo mundo. Tanto em rápidas visitações como em relações mais duradouras, o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente. Atualmente muda-se de domicílio e país com muito mais facilidade e os intercâmbios culturais são permanentes e contínuos. Durante essas experiências, em contato com novos lugares e culturas, “o homem Capítulo 1- Lugares e Tradições
96
busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado, e pouco a pouco vai substituindo a sua ignorância do entorno por um conhecimento, ainda que fragmentário” (SANTOS, 1999, p.263). Os lugares propagam de uma forma simples e direta características que atiçam a curiosidade dos visitantes, sendo catalisadores do turismo: ligar-se rapidamente a um lugar, apoderar-se dele através de todos os sentidos, sorver-lhe as particularidades, identificá-lo. O turismo traz olhares atentos para o que é típico, que segundo Nestor Canclini (1983), é resultado da abolição das diferenças, subordinando a um tipo comum os traços específicos de cada comunidade. Para ele, o turista necessita desta simplificação do real, pois não viaja como um investigador da realidade e sim como mero espectador (Fig.02). As cidades crescem, dialogam cada vez mais com outras culturas, recebendo visitantes de diversas regiões do país e de outras partes do mundo, ávidos por encontrar um conjunto de símbolos que as identifiquem mais facilmente. Isso pode ampliar sentimentos de proteção, acolhimento, reconhecimento, minimizando ou ampliando questões referentes à alteridade. O turista “faz a cidade” e a cidade é feita em parte pela presença desse visitante, que circula pelos recantos, conhece lugares e pessoas, usa a infraestrutura, aciona serviços. A partir da visitação do turista há uma troca. “Não se precisa de mais que um pouco de astúcia para metamorfosear um no outro”. (LATOUR, 2010). No processo de buscas entre o enraizamento seguro e a procura por novos lugares para visitar, os indivíduos alternam segurança e liberdade e procuram conhecer diferentes culturas, novos territórios, outras línguas: domínios de pedaços do mundo que lhes deixem marcas e que sejam também marcados por esses fugidios e duradouros contatos. “Essa dispersão das pessoas ao redor do globo produz identidades que são moldadas e localizadas em diferentes lugares e por diferentes lugares” (WOODWARD, 2009, p.22). Nas cidades visitadas, aspectos inerentes a cultura local são encenados, reinventados e nesse processo há uma recuperação da própria identidade dos lugares. Essa dinâmica, que envolve a tradição Capítulo 1- Lugares e Tradições
97
adaptada para o consumo turístico, penetra no tecido social e muitas vezes transforma-se em movimento cultural do presente, com valorização e conhecimento do passado dos grupos. A identidade turística dos lugares é uma construção social feita de tradições e construções culturais inventadas e reinventadas, que atendem aos mais diversos interesses. O contato entre turistas e residentes, entre culturas diversas, desencadeia um processo tensional, repleto de questionamentos e contradições, mas provoca também o fortalecimento da identidade e da cultura dos indivíduos e da sociedade receptora, bem como do visitante, que na alteridade, se redescobre. (BANDUCCI JR.; BARRETTO, 2001, p.1).
Existe
no
mundo
contemporâneo
um
excesso
de
acontecimentos, que afetam a linguagem da identidade (AUGÉ, 1997). A mídia coloca as pessoas em relação ao mundo inteiro e neste movimento, elas são postas sob a luz dos holofotes, juntamente com as cidades que as abraçam, pelo conjunto de meios de publicidade massiva. Esses meios de comunicação, tanto na atividade editorial, quanto televisiva, selecionam, organizam, transformam, manipulam e difundem as informações (Dig. 02). Com graus de penetração diversos,
através
de
jornais,
cartazes,
painéis,
aparatos
de
telecomunicações, enfim, suportes de todos os tipos, as imagens circulam de forma rápida e maciça. “Desse modo, difundido ao infinito, uma imagem extremamente simplificada e rasa do mundo tende a substituir a experiência pessoal e social das realidades dos outros” (AGIER, 2010, p.18). Nesse contexto se processa a criação cultural nos lugares, cuja construção identitária liga o local ao global. Pensando em todo esse movimento, será que essas múltiplas identidades vivenciadas pelo homem e construídas em relação aos lugares podem ser entendidas como processos serenos, amenos, fáceis de serem edificados e vividos? A construção de identidades e suas afirmações mediante marcas e práticas não é algo dado, nem fruto de liberdade ampla e total. É resultado de buscas, lutas, acordos, decisões, possibilidades,
reivindicações,
renovações,
descobertas,
voltas,
reconhecimentos e mutações. A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por Capítulo 1- Lugares e Tradições
98
fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que organizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. (CASTELLS, 1999, p.23).
Certamente, forma-se aí um labirinto de possibilidades, um caleidoscópio multiforme e multicor e paga-se um preço pela liberdade de escolha, pela diversidade, pelo pluralismo que marcam o mundo contemporâneo. Nesse processo de individualização e socialização existem tanto fissuras insignificantes, quanto rupturas significativas. A partir daí, uns se sentem dentro de uma perspectiva libertária e outros inseguros por se depararem com um mundo confuso e cheio de opções de interpretação, caminhos possíveis de serem trilhados, cercados por disputas e interesses. Acredito que, consciente ou não, o homem busca novos itinerários para remediar essas dificuldades, procurando a realização individual e coletiva. Nessa corrida incessante para construir o ser, o dever ser, o lugar para reconhecer-se, as pessoas, grupos e instituições vão montando formas de alcançar o bem estar, o aconchego, o amparo, o conforto, o sucesso, o apoio, o sentido de uma existência pessoal e grupal. É um movimento que se forma como proteção aos danos causados por uma existência plural, marcada pela fluidez, abrangência e velocidade. São maneiras de renovar a confiança, de gerar expectativas, de alicerçar de forma significativa a identidade, por mais fluida que esta possa parecer. Em nossas variadas identificações, as identidades vão ampliando as possibilidades de nos relacionarmos, de construirmos discursos apropriados a cada situação, tempo e lugar. Nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas, pois dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando-nos em diferentes direções (HALL, 2006). Nesse sentido, as variações entre pertença e não-pertença oscilam entre a imitação e a invenção, entre o hábito e a espontaneidade, entre a segurança e a liberdade (SINGLY, 2003). A partir daí, penso que esta é uma viagem contínua, duradoura, repleta Capítulo 1- Lugares e Tradições
99
de tensões, controvérsias e que é bom lembrar que “[...] a construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder” (CASTELLS, 1999, p.24). Dentro desse processo caleidoscópico que é a construção identitária, ser brincante é mais uma possibilidade dentre tantas vivenciados pelos moradores das cidades. Os brincantes mascarados identificam-se nos folguedos da Cultura da Tradição que também passam a formatar a identidade dos lugares (Fig. 03). Ser mascarado é mais uma faceta de profissionais liberais, políticos, funcionários públicos, donos de hotéis, comerciantes, donas de casa, estudantes. Esses moradores circulam pelos cargos, pelas funções, pelas atividades, pelos grupos que constituem a comunidade de cada lugar e também pelos grupos de brincantes. O mundo imaginal que envolve os folguedos, que acentua a força de permanência e mudança das brincadeiras embasa sua existência. A força dos mascarados e das brincadeiras por eles vivenciadas amplia sua visibilidade e importância, possibilitando que eles tornem-se símbolo identitário dos lugares (COSTA, 2009a). É nesse sentido que devemos pensar na história e vida dos Papangus de Bezerros e nos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira: cidades dos mascarados. 1.3.4 Bezerros: Terra dos Papangus; Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros. Observamos que hoje tanto os indivíduos, quanto as cidades estão envoltos no processo de globalização, que atinge fatores ligados à economia, à comunicação, à cultura, interferindo na produção e consumo de produtos, bens, serviços, ideias, nos estilos de vida e, consequentemente, na formatação de novas e amplas identidades. A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de identidades. (WOODWARD, 2009, p. 21).
Capítulo 1- Lugares e Tradições
100
Nessa busca entre o global e o local os lugares vão sendo identificados, preservando antigas características e ampliando novos elementos que resumem suas identidades e ajudam na representação dos que neles nasceram. Municípios que têm nomes e que dão nomes aos seus filhos: Robertinho do Recife, Tonino de Arco-Verde, Canhoto da Paraíba. Cidades que a partir de suas manifestações culturais transformam-se na terra dessas representações e personagens. Recife: Terra do Frevo; Caruaru: Terra do Forró; Bezerros: Terra do Papangu; Afogados da Ingazeira: Terra do Tabaqueiro. “Assim, a construção da identidade é tanto simbólica quanto social” (WOODWARD, 2009, p. 10). Como os seus habitantes, as cidades, com suas diversas dimensões, podem passar por inúmeras mudanças em sua história e desenvolvimento e ter, em cada etapa, significativas marcas em sua formação identitária, a partir do interesse peculiar de cada momento e circunstância. Esse movimento não é excludente. Várias identidades [7] Situada a 403 quilômetros da Capital do Estado, Triunfo encontrase a cerca de 1000 metros acima do nível do mar, formando uma paisagem diferente no semi-árido, na Caatinga, denominada de brejo de altitude.
podem conviver paralelamente, sendo acionadas conforme a necessidade e importância em cada contexto histórico. Como exemplo poderia citar a cidade de Triunfo7, no sertão de Pernambuco. Na história do município diversas adjetivações ajudam na compreensão de sua importância regional e delineiam as especificidades de seu percurso na contínua e mutante construção de identidades. Triunfo é conhecida desde o início de sua formação como Celeiro do Sertão, Suíça Pernambucana, Canaã Pernambucana, Esmeralda do Sertão, Terra da Promissão, Oásis do Sertão, emblemas que exaltam a fartura da terra e a amenidade de seu clima, muito frio nos meses chuvosos. Foi reconhecida como a Corte do Sertão, por ser, entre as décadas de 40, um pólo cultural, comercial, industrial e educacional. Com o passar dos anos o plantio de cana de açúcar e a produção de rapadura dos engenhos locais lhe rendeu o título de Reino da Rapadura. Pela importância da centenária brincadeira carnavalesca dos mascarados é hoje conhecida como Terra do Careta, pois o folguedo conforma uma identidade cultural que legitima e representa, simbolicamente, aquele espaço (COSTA, 2009a) (Dig.03). As empresas de comunicação e propaganda midiática, as Capítulo 1- Lugares e Tradições
101
instituições governamentais, as organizações de turismo e comércio, os próprios moradores e visitantes, incumbem-se de acionar essas múltipas identidades em função das necessidades e interesses de cada instância. Construídas na história dessa cidade, continuam a representá-la nos dias atuais, como lembrança de um passado marcante ou exemplo de novas interferências presentes no contexto atual. Observo que algumas localidades, como Triunfo, ainda guardam características bucólicas da cidade interiorana, mas também estão inseridas no processo de circulação de bens econômicos e simbólicos provocado pela globalização. É cada vez maior o número de moradores que utilizam os avanços tecnológicos, armazenamento e transmissão de informações propiciadas pelas emissoras televisivas e pela rede mundial de computadores, a internet, conectando-se com outros lugares espalhados no mundo (COSTA, 2009a). Esse diálogo com discursos e imagens distintos tem gerado respostas de reafirmação de identidades locais. “De fato, o resultado mais paradoxal da globalização tem sido justamente o de frustrar quaisquer expectativas de homogeneização de culturas [...]” (ANJOS JR., 1997, p. 09). Para o autor, o fenômeno da globalização não inibe a preservação de uma identidade local, mas estimula o resgate de mitos, símbolos, técnicas e imagens da própria comunidade, num processo de recriação que pressupõe diálogo, influências e negociações com outras culturas. Isso serve para pensarmos que o pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha e, conseqüentemente, não podem ser garantidos por toda a vida (BAUMAN, 2005). A velocidade das mudanças, adaptações e resgates identitários atinge de uma forma mais amena as pequenas localidades e numa perspectiva mais ampla os grandes aglomerados urbanos. É interessante destacar que tanto Bezerros quanto Afogados da Ingazeira tiveram em sua origem um rio que serviu de pólo de assentamento e desenvolvimento.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
102
Bezerros Maria Cacilda Santos Como um presépio gracioso e leve O casario em filas, curioso, Subindo a rampa pelos céus além Mira o rosto no espelho do Ipojuca Ou contempla saudoso, lá de cima A fumaça de adeus que deixa o trem. A Canceição de guarda: a ponte férrea; A Avenida, o Comércio, a “Rua Grande Por onde em festa se derrama a feira A barragem do rio, a Prefeitura, O Matadouro novo. E a Matriz grande Abençoando o alto da ladeira São José de Bezerros: dizem todos Que quando a gente vai a vez primeira A um templo, ali com fé e confiança Se pede alguma coisa ao Padroeiro A prece sobe aos céus e certamente O que se pede é graça se alcança Pois Saõ José, a ti que és milagroso, Peço: Guarda esta terra hospitaleira Sempre cheia de fé casta e inocente E que o mal nem por sombra, aqui perdure O compasso feliz e harmonioso Dos corações de ouro desta gente.
Afogados da Ingazeira é conhecida desde muito tempo como Princesa do Pajeú ou Princesa do Vale, referenciando a beleza da região, às margens do importante rio. Os poetas cantam as características da terra-natal. Afogados da Ingazeira Diomedes Mariano Berço esplêndido, cidade encantadora Orgulhosos de ti, teus filhos são Teu carinho de mãe acolhedora Vive dentro de cada coração. Primavera é a tua fase loura No outono és somente empolgação No inverno és adubo onde a lavoura Se prepara para as tardes de verão De princesa do vale és batizada Dando tudo que tens sem sobrar nada De quem mora em teu seio ou te visita A barragem de Brotas ou a igreja Dão-te o título de musa sertaneja Mais saudável, mais calma e mais bonita.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
103
A formação de currais para o pastoreio de gado e o cultivo de agricultura de sobrevivência foram, nos dois municípios, elementos importantes de ocupação. Também nas duas cidades a população era devota de São José, marcando a religiosidade dos moradores e sendo essa, ainda hoje, uma referência para a ação comunal. Em ambos os municípios a história revela a importância dos mascarados carnavalescos para a construção de uma identidade em movimento. Observando toda essa problemática como podemos pensar nas questões que cercam a formatação da identidade nas cidades de Bezerros e Afogados da Ingazeira e a relação destas com a história dos Papangus e Tabaqueiros? (Fig.04; Dig.04.). Acredito que se faz necessário conhecer mais e mais sobre a própria vida dos folguedos, seus mitos de origem e a importância da máscara no universo das brincadeiras. Rastrear as conexões que existem entre os atores, humanos e nãohumanos, formadores dos coletivos. Para isso, torna-se fundamental acionar a memória individual e grupal dos moradores, buscando elementos que marcaram lembranças e esquecimentos: rostos e máscaras que têm muito a dizer, tecendo as narrativas com fios de emoção.
Capítulo 1- Lugares e Tradições
104
[Fig. 01] A cidade e seus habitantes: sentimento e pertença na antiga Bezerros. (Acervo Renato Bezerra da Silva).
[Fig 02] O turista quer levar consigo as imagens do lugar. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 01- Lugares e Tradições
105
[Fig 03] Os mascarados acionam a construção identitária dos lugares. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 04] Bezerros dos Papangus. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 01- Lugares e Tradições
106
2. ROSTOS E MÁSCARAS
A Máscara remete à existência de uma dimensão constituída de sentidos secretos; ela abre as portas do mistério. Ao atestar a presença do sobrenatural, do encantamento, a Máscara suspende o cotidiano e exibe um universo habitado pelos mitos. (NOGUEIRA, 2009, p.15). Como se uma poderosa maldição houvesse sido lançada sobre as coisas, elas permanecem adormecidas como servos de um castelo encantado. No entanto, uma vez libertas do feitiço, começam a espreguiçar-se, a estirar-se, a balbuciar. (LATOUR, 2012, p. 11).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
107
Mnemísine, Titânide da primeira geração das divindades gregas, era conhecida como deusa da memória. Ao deitar-se com Zeus durante nove vezes, gerou nove filhas, as Musas, inspiradoras e protetoras das artes e das ciências. Reconhecida pela sua importância, Mnemísine lutava para que a memória fosse desenvolvida e preservada, atingindose, então a aprendizagem, o conhecimento e a sabedoria. Em contrapartida, em Hades, nos subterrâneos da Terra onde viviam as almas dos mortos e dominava o deus de mesmo nome conhecido como a divindade do mundo inferior, existia um importante rio: o Lethe. Adentrar em suas correntezas e beber de suas águas significava experimentar o esquecimento. Entretanto este ato era importante e necessário para os espíritos que iriam reencarnar, voltando à superfície da Terra. As águas do esquecimento possibilitavam romper em definitivo com as lembranças de vidas passadas. Memória e esquecimento, elementos retratados no universo mitológico sinalizam funcionalidades reconhecidamente válidas para que possamos compreender, de forma mais ampla, a condição humana (AQUINO, 2007). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
108
2.1 Memória: Lembranças e Esquecimentos [...] Não há verdade absoluta, intangível, mas muitas verdades em situação, determinadas pelo que é vivido, aqui e agora, por pessoas inseridas em uma determinada comunidade. (MAFFESOLI, 2003, p.114).
Rostos diversos, múltiplas histórias ditas por sujeitos que não calam. Cada uma das pessoas por mim entrevistadas ofereceu-me, como um presente, um tesouro de expressões, palavras, gestos, risos, lágrimas, vozes e silêncios. Os sentimentos e as emoções foram revelados quando, através de meus questionamentos, revolvi a memória individual e coletiva, como quem mexe em gavetas há muito fechadas ou em baús esquecidos num canto escuro de um aposento. Entretanto, diversas vezes detectei que aqueles pensamentos não estavam apenas como páginas de livros adormecidos em prateleiras empoeiradas, mas como o sangue em movimento, pulsante e renovado. E assim enfrentei o desafio de ter o [...] compromisso em estudar a experiência humana partindo do nível elementar em direção ao mais avançado, do ponto dos indivíduos em interação, os quais juntos ou sozinhos fazem e vivem as histórias legadas dos espectros do passado. (DENZIN; LINCOLN, 2006 p. 405).
Nesse bordado de muitos fios compreendi que a memória é irmã gêmea da tradição, embora essa formação não seja univitelina. As duas envolvem sentimentos que conduzem à emoção escondida na serração dos mares da alma. Ambas ajudam o indivíduo e os grupos a tecerem a manta da vida, a construírem uma história particular e grupal, única e plural. Elas deixam marcas, tatuam nosso espírito com um ácido mágico repleto de prazer e dor. Numa relação fraternal caminham juntas, lado a lado, e a vitalidade de uma é a possibilidade de existência da outra, acionando as lembranças. Lembrar é uma tarefa, um esforço, uma labuta, um trabalho. Os mais velhos têm prazer em acionar suas lembranças e transmiti-las através das narrativas. Ao lembrar do passado ele [o idoso] não está descansando, por um instante, das lidas cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, a substância mesma de sua vida. (BOSI, 1994, p.60). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
109
Tanto a memória quanto a tradição não têm a rigidez dos minerais, mas a maleabilidade de um néctar adoçado por outro importante elemento: o esquecimento. Este possui uma função letal de exterminar
alguns
inquestionáveis,
como
pensamentos detalhes
indesejáveis sem
ou
importância,
mesmo impressões
desprezíveis ou elementos de difícil compreensão. O esquecimento pode também ser pensado como uma permissão à vida e à sobrevivência dos pensamentos que são mais caros e mais significativos. Ampliando essa reflexão, Paul Zumthor observa que as culturas se lembram também esquecendo, e com isso rejeitam parte do que acumularam no dia a dia de sua existência. A memória coletiva preserva e recupera o que, do vivido, pode e deve permanecer funcional. Assim o esquecimento está sob a égide da funcionalidade. “É dinâmico; rejeita, mas em vista de. Ele não anula, ele pole, apaga, e, por isto, clarifica o que deixa à lembrança [...]” (1997, p.15). Penso que, com a ajuda da lembrança e do esquecimento, a memória e a tradição seguem numa imponderável missão de existência. Como sugere Zumthor, eles são um fermento para a vida da memória e flexibilidade da tradição. É importante notar que muitos são os adjetivos que podem ser atribuídos à memória, caracterizando-a e explicitando sua diversidade e dimensão. Ela é arteira: prega-nos peças: falha ou falta na hora em que mais precisamos de sua eficiência. É fugidia, não linear, nebulosa. Não trabalha dentro dos limiares de causa e efeito. Tem a ver com questões biológicas e funcionais do nosso corpo, sendo fruto de nossa natureza. Intrinsecamente, é cultura: uma construção ao mesmo tempo individual e social. Esse entendimento nos ajuda a pensar na totalidade humana e entender que “é evidente que o homem não é constituído por duas camadas sobrepostas, uma bionatural e outra psicossocial” (MORIN, 2000, p.05). A memória é cravada por todos os elementos humanos e não humanos que nos rodeiam. Rostos, vultos, corpos: personagens que acionam nossas lembranças. Casas, ruas, campos, fauna e flora: cenários refletidos no espelho de nossa alma. Cores, formas, cheiros, Capítulo 2- Rostos e Máscaras
110
gostos, texturas: tudo isso aguça os sentidos ligando-nos ao passado próximo e distante. Objetos: esses parceiros de todas as horas que fazem parte de nossas vidas e de nós mesmos. A memória não pode ser entendida como uma representação do passado”, mas como um “fenômeno sempre atual, um laço vivido no presente eterno” (AUGÉ, 1997, p.48). Ela cria hábitos, exercita nossa paciência, necessita de energia e tempo para ser acionada. E, nesse processo de buscas e apreensões as lembranças e os esquecimentos formatam o tecido da memória, como filamentos que se entrelaçam e constroem as imagens em nossas mentes. A memória é um filtro seletivo e na vasta gama dos eventos e das experiências, repescamos alguma coisa e enviamos um feixe de luz na direção do passado (MELUCCI, 2005). A memória é marcada pelo tempo. Este, desenhado no calendário do homem, pontua os acontecimentos em relação a uma [1] Latour destaca o valor de visualizarmos elementos de tempos diversos, uma justaposição que formata o conceito de politemporal. Tomando de empréstimo o termo latouriano, Raymond Boisvert qualifica o filósofo John Dewey dentro do universo da politemporalidade, pelo uso de sua teoria em propostas educacionais pós-modernas ou mesmo de campos do conhecimento diversos, inclusive na ArteEducação, na qual teve contundente influência (DEWEY, apud BARBOSA, 2001). Vide também CAMPELLO, 2001.
série regular de datas. A historicidade, por sua vez, situa os acontecimentos em relação à sua intensidade (LATOUR, 2009)1. Acredito que a memória segue de perto esse itinerário, situando as lembranças não pela seqüência temporal, mas pela intensidade das marcas deixadas. É fundamental, então, ficarmos atentos que: A antropologia está aí para nos lembrar que a passagem do tempo pode ser interpretada de diversas formas, como ciclo ou como decadência, como queda ou como instabilidade, como retorno ou como presença continuada. Chamemos de temporalidade a interpretação dessa passagem, de forma a distingui-la claramente do Tempo (LATOUR, 2009, p, 67).
O tempo que marca a memória é um tempo com características próprias, pois cada indivíduo aciona suas lembranças e esquecimentos a partir das tatuagens impressas na estrada espiralada particular de cada existência pessoal. Na memória superpõem-se presente, passado e futuro; flui o Kairos, tempo mítico, a-causal. Possui margens, amarras e limites tênues; é solta, atrela-se ao desejo. Atravessada por contradições, pertence ao reino da desrazão, explicitado num amplo leque de marcas que teimam em conferir especificidades aos indivíduos e aos grupos. Fomentada por uma lógica desconhecida, escapa ao controle, insinua-se, esconde-se. Ora deixa-se desvelar por meio da vontade do indivíduo, ora é desencadeada por estímulos desconhecidos. (NOGUEIRA, 2011). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
111
Tentando desvendar esse ser de tantas facetas, segui os fios das revelações de moradores, brincantes, comerciantes, funcionários institucionais, turistas, enfim, dos participantes e envolvidos no movimento
dos
folguedos
da
tradição
dos
mascarados
pernambucanos. Dei especial atenção aos não-humanos que participavam do universo as brincadeiras: os rastros do coletivo foram seguidos cuidadosamente. Lembranças e esquecimentos ajudaram a formatar a vida dos folguedos, revelando aspectos inerentes à existência dos próprios lugares. Nesse processo de busca muitas vezes a memória e o esquecimento de indivíduos estabeleceram um diálogo em que procuraram dominar imagens de um mundo longínquo, emprestando-lhe um sentido de familiaridade (NOGUEIRA, 2002). As palavras, vivas e visíveis, indicaram um amplo e complexo sistema de estocagem de informações: processos cognitivos baseados na oralidade que constroem uma tradição viva. Ela é portadora de invariabilidades que, ao se referirem a um passado - real e/ou imaginário - impõem práticas constantemente reiteradas, por meio do exercício da memória. Paradoxalmente, tais práticas são alimentadas pela recriação, revelando uma intricada teia que compatibiliza persistência e transformação; indício de sociabilidades renovadas no tempo. (AMORIM; NOGUEIRA; COSTA, 2010 p. 151).
A manta sobre os mitos de origem das brincadeiras, criada a partir desta memória individual e coletiva desvelou desenhos diversos: histórias contadas e recontadas, rostos regados pela emoção e pelo desejo de fazer-se ouvir. 2.1.1 Os Mitos de Origem: Verdades Revividas [...] Não há realidades eternas: tal como não há verdades absolutas. (NIETZSCHE, 2006, p. 31).
Os mitos revelados e transmitidos através das gerações dão à luz as narrativas fundantes das brincadeiras e ressaltam suas metamorfoses: cada nova história contada diz muito da vida dos folguedos, dos brincantes, das cidades, das realizações individuais e relações comunais.
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
112
Nesse sentido, os mitos de origem dos folguedos da Cultura da Tradição, falam não apenas do surgimento e desenvolvimento das brincadeiras, mas da vida dos lugares, “[...] de tudo o que concerne à identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de tudo o que
suscita
interrogação,
curiosidade,
necessidade,
aspiração.
Transformam a história de uma comunidade, cidade, povo, tornam-na lendária [...]” (MORIN, 2005a, p.150). São muitas as histórias que floresceram das narrativas de antigos moradores e renasceram com novos caules e folhas, cada vez que foram recontados: ramas da vegetação que se entrelaçaram tecendo ricas mantas verdejantes. Como em todos os pensamentos mitológicos, essas contações caracterizaram-se pela riqueza semântica e excesso de significações. Conhecê-las e compreendê-las representou um desafio constante e instigante, por mim perseguido durante todo o desenvolvimento da pesquisa. Entendo que a mitologia projeta a subjetividade humana no mundo exterior, ligando o indivíduo à natureza, ao cosmo. A partir dela, o humano, indivíduo ou sociedade estabelece uma comunicação com o mundo. O pensamento simbólico-mitológico não é fruto de mentes arcaicas ultrapassadas. É verdadeiramente, “a manifestação e a [2] O autor esclarece que a palavra Mythos, significa discurso, encontrando-se atrelada a questão da linguagem. Com um mesmo significado, o termo Logos está ligado aos discursos do mundo exterior, relativo ao universo racional e lógico. O Mythos, diferentemente, desvenda o mundo interior, a compreensão subjetiva e apresenta-se como outra forma de pensar o mundo, na perspectiva de uma racionalidade aberta.
conseqüência polarizada dos princípios e processos fundamentais do conhecimento” (MORIN, 2005a, p.158)2. Uma vez “dito” o mito passa a ser uma verdade, pois “o mito proclama a aparição de uma nova „situação‟ cósmica ou de um acontecimento primordial”. E é assim que os mitos de origem são revelados e desvelam verdades: “é sempre a narração de uma „criação‟: conta-se como é que qualquer coisa foi efectuada, começou a ser” (ELIADE, 1992, p.108). Embora anunciando verdades, os mitos não são perenes, imutáveis. Desde os gregos, eles são recontados e recriados, como uma matéria plástica que vai se moldando e se adaptando às necessidades de cada contexto, dos grupos e dos indivíduos. E assim, desde esses tempos remotos: “[...] todos tinham o direito de modificar esses mitos, não havendo, em toda a história da literatura helênica, um Capítulo 2- Rostos e Máscaras
113
poeta que, de acordo com a respectiva fantasia, não tenha dado importância às tradições lendárias, modificando-as, adaptando-as, conferindo-lhes esta ou aquela significação moral” (GRIMAL, 2009, p. 08). Segundo Lévi-Strauss (2004; 2000) os mitos podem ser comparados à música: têm finalidade estética e não objetiva. A função dos mitos é adentrar na imortalidade e por isso torna-se fundamental lermos essas narrativas pela óptica do sensível, da imaginação e da ressonância. Se conseguirmos percorrer as camadas formadoras dos mitos, traduzindo-as a partir de nossa própria bagagem, atingiremos o âmago do espírito. A mitologia ajuda a assegurar que o futuro de certa forma permaneça fiel ao presente e ao passado, através das histórias contadas. Essas narrativas são essenciais para o entendimento e condução da humanidade, um catalisador cognitivo. Não só porque os mitos fornecem uma explicação do Mundo e da própria maneira de estar no mundo, mas, sobretudo porque, ao recordar, ao reactualizá-los, ele é capaz de repetir o que os Deuses, os Heróis ou os Antepassados fizeram ab origine. Conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. Por outras palavras, aprende-se não só como as coisas passaram a existir, mas também onde as encontrar e como fazê-las ressurgir quando elas desaparecem. (ELIADE, 1986, p.19).
A significância dos mitos fundantes é destacada por Eliade (1972) quando o autor reconhece que essas narrativas falam da origem dos fenômenos e das coisas e do momento em que esses elementos tornaram-se significativos ao homem. A partir dessas narrativas os homens se referenciam, se encontram, se identificam diante do mundo. Os mitos de origem sobre as brincadeiras dos mascarados fazem parte de uma tradição que perpassa gerações e que aciona a memória. [...] Toda tradição se torna continuamente mais respeitável, quanto mais remota for sua origem, quanto mais esquecida esta estiver; o respeito que lhe é atribuído se acumula de geração em geração e a tradição termina por tornar-se sagrada e inspirar veneração (NIETZSCHE, 2006, p. 95). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
114
Tocava-me o modo como esse sentimento aflorava nas falas dos moradores que expressavam uma grande emoção ao transmitirem preciosas informações sobre a origem dos folguedos. Logo compreendi que nesse processo de lembranças e esquecimentos não existia uma verdade histórica única que pudesse ser recuperada e difundida. Havia, nesse sentido, múltiplos e diferentes mitos de origem, diversas histórias que sintetizavam as versões de um passado longínquo e próximo, construído pelas palavras repetidas, deslocadas, removidas ou acrescentadas. Onde está a verdade? Ela subjaz às múltiplas camadas formadoras das contações de histórias, vive na teia de singelos filamentos de narrativas que são compartilhados coletivamente: significados capazes de serem contestados; peculiaridades e detalhes inerentes a cada mito; fermento responsável pelo nascimento e transformação das narrativas. Segundo a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2009) existe o perigo na contação de uma única história. Isto superficializa as experiências e negligencia as verdades. “Histórias importam. Muitas histórias importam”, diz ela. “Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma única história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso.” Muitas das histórias a mim reveladas trouxeram verdades, omissões, formas de recriar o passado, viver o presente e indicar um futuro. Assim me deparei com um rico universo fértil e criativo. Era necessário, porém, perceber o valor de não querer se livrar das controvérsias presentes nas narrativas, mas tentar rastrear as conexões entre elas, visualizando os laços incertos, frágeis e mutáveis (LATOUR, 2012). Notei, a princípio, que existia sempre uma necessidade, por parte dos interlocutores, de ressaltar que a brincadeira vivenciada em seus municípios era o folguedo mãe: aquele que gerou ou antecedeu os outros. “Os nossos Papangus são mais antigos. Eles é que geraram os de Bezerros”, afirmava um brincante. “Primeiro vieram o Mateus e depois os Capítulo 2- Rostos e Máscaras
115
Papangus” assinalava um morador. “Os mascarados daqui foram os primeiros dessa região”, confirmava outro informante. E assim as justificativas eram ressaltadas e os depoimentos iam formando uma trança com os duplos fios da memória e do esquecimento, entremeados por fitas brilhantes de encanto e orgulho. Nos rostos, os olhos dos contadores cintilavam, refletindo a emoção de poder falar sobre a história dos mascarados, e, consequentemente, sobre a vida das máscaras. 2.1.2 A Origem dos Folguedos: Histórias que Encantam a História Apagando os limites que separam o eu, o outro e a história, procuramos aprender como contar novas histórias, histórias estas que não mais estão contidas ou confinadas dentro dos contos do passado. (DENZIN; LINCOLN, 2006 p. 405).
Nas idas e vindas aos municípios as narrativas desenharam um prisma de muitas faces, um canto repetido, com sonoridade de sabedoria e tradição: um encantamento pelas histórias de cada grupo. Em Bezerros uns diziam que os escravos confeccionavam máscaras e saíam pelos sítios, vivendo todas as possibilidades que o anonimato podia propiciar aos cativos: acesso aos lugares restritos e possibilidade de se fartarem com comidas e bebidas ofertados pelos moradores durante o Carnaval.
[3] Turismóloga, funcionária da Estação da Cultura, 40 anos. [4] O angu é uma comida muito apreciada no nordeste. À base de fubá de milho, cozido por cerca de 30 minutos e com uma pitada de sal, a iguaria é servida acompanhada de galinha ou carne guisada. No sul do país usa-se a polenta, de origem italiana, também do fubá, que pode ser grelhada ou frita.
Tem várias versões. Na versão popular a gente encontra que... eles ressaltam que escravos só entravam na casa grande na época do Carnaval porque eles se vestiam de Papangu, cobriam os rostos com máscaras e tinham livre acesso à casa grande. (Suely Aparecida3).
Outra narrativa fornecia como princípio fundador os elementos que permeiam as relações de gênero e matrimônio: os homens mascaravam-se para burlar suas companheiras, vivendo, com o disfarce, o direito de brincarem livremente na pândega de Momo. Uma terceira versão relatava que dois irmãos saíram comendo exageradamente o angu4 distribuído pelos moradores no Carnaval e foram apelidados de Papa-angu (Dig. 01).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
116
Tem canto que tem o angu, é por isso que a gente empapa na palavra papa. É porque na época que saía o angu não tinha a palavra... é... “Vamos comer tal coisa! Não! Vamos empapar, vamos empapar tal coisa, tal comida”. Então por isso saiu... a gente comia muito angu no Carnaval nas casas que chegava, com galinha, com charque, até como salgado mesmo, como petisco. Tomando batida, tomando licor e tomando vinho e prá não deixar a cachaça diferente alguns entrava abaixadozinho na cachaça. (mestre Lula Vassoureiro).
Nesse entremeado de histórias é marcante a presença de uma estética mais simples dos brincantes, caracterizado, principalmente, pela confecção da máscara. Esta é, verdadeiramente, o principal elemento da brincadeira, marcando as fases na linha do tempo de vida do folguedo dos Papangus. O Papangu ligítimo usa meia nas mãos para ninguém conhecer. As roupas tinham que ser emprestadas de outro povo, não podia ser de gente da família porque a gente ficava conhecido. E como na história do Papangu o Papangu não tem identidade, então por causa disso ninguém pode conhecer o Papangu. Cada qual fazia sua troçazinha. Hoje é grupo, mas era uma troça, de oito, de dez. Eu já cheguei a sair numa troça de vinte e nove. (mestre Lula Vassoureiro).
O mestre Lula Vassoureiro expõe orgulhosamente em seu ateliê, um grande quadro que resume as mudanças das máscaras e da indumentária usada pelos brincantes nos primórdios do folguedo. Aos oito anos eu já me fantasiava, já fazia minha própria máscara, mesmo mal feita, que era com papel de embrulhar charque. Que a biografia é essa. As primeiras máscaras foram feitas com papel de embrulhar charque. Que papel de embrulhar charque antigamente, no meu tempo, ele era grosso feito um papelão. E aquele papelão a gente aproveitava e fazia as máscaras e brincava no Carnaval. E como era pouco também... O Carnaval o povo até que tinha medo de gente mascarado... porque sempre teve esse medo de gente mascarado. (mestre Lula Vassoureiro).
Segundo Rosa Soares (2007), em 1905 já existiam registros dos mascarados circulando pelos sítios e pelo centro, pedindo dinheiro e assustando a meninada com suas roupas velhas, enfeitadas com folhas [5] O urucum é uma planta medicinal, usada como tempero e como tintura natural.
de bananeira. As máscaras de papel de embrulhar charque e papelão eram pintadas com pigmentos naturais, como o urucum5, folhas de fava
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
117
[6] O beiju é uma iguaria de origem indígena, típica do Norte e Nordeste brasileiro. Geralmente é feita com massa de mandioca e assada em forno de lenha embrulhado em folha de bananeira.
e carvão, para delinear os olhos, nariz e boca. Além dos trocados, os brincantes recebiam frutas, ovos, aves e beiju6 (SOARES, 2007) (Dig. 02). Com o passar dos anos outros materiais começaram a ser usados na confecção das máscaras. O coité7, após ser dividido ao meio e nele serem feitos orifícios para os olhos e nariz, recebia ornamentos para realçar os detalhes da face. A partir da década de cinqüenta,
[7] Fruto do cuitezeiro. Aberto e limpo é usado como utensílio doméstico, em decoração e instrumentos de percussão (CASCUDO, 2001).
artesãos como o pai de Lula, Zé Vassoureiro, dão continuidade à arte das máscaras. O papel colê, feito com pedaços de jornal colados passa a ser uma outra opção de substrato, bem como os tecidos pintados. Surgem então as meia-máscaras, cabeções8 e a variedades de tintas à base de gasolina e breu (SOARES, 2007). Não existem muitos
[8] Cobrindo toda a cabeça, geralmente os cabeções têm dimensões avantajadas em relação à escala humana. Gilmar Silvestre é um dos mais conhecidos artesãosartistas de Bezerros, que produz esse tipo de máscaras.
registros fotográficos dessa época, mas o mestre Lula se fantasiou para que fotos atuais pudessem ser tiradas, para dar uma ideia de como seriam os mascarados antigamente (Fig. 01 e 02). Seguindo para o sertão de Pernambuco continuei a ouvir, repetidamente, as narrativas sobre a origem das brincadeiras. Como em Bezerros, foram muitas as histórias sobre o nascimento e vida dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira. As lembranças dos moradores mais velhos eram como um vulcão em ebulição, com suas larvas incandescentes seguindo pelos vales da memória: Havia Papangu. Ninguém falava e sabia o que era... quem inventou esse nome de.... Como é que eles chamam hoje? Tabaqueiro nunca existiu. E nem existe no mundo. Esse nome em todo canto do mundo é Papangu. No Rio de Janeiro, em todo canto é Papangu. Não existia esse negócio de Tabaqueiro. Foi um besta que inventou isso. Pode dizer mesmo isso. (Gastão Cerquinha).
Indignado com o termo usado hoje para referenciar os mascarados afogadenses, o Sr. Gastão recorda a brincadeira que via nas ruas, quando criança. Papangu era de máscara. Ele se escondia atrás daquela máscara pra ninguém conhecer ele. Saía com reio [chicote]. E não tinha esse negócio também de pedir dinheiro. Saía só fazendo alegria. Hoje o povo sai prá pedir dinheiro. Sai Papangu com o nome de... [Tabaqueiro]. (Gastão Cerquinha).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
118
Inicialmente chamados de Papangus, a origem da denominação Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira tem versões distintas.
[9] Conhecidos como atabaques ou tabaques os tambores de várias dimensões têm a origem africana, sendo muito usados para marcar o ritmo em danças e rituais. Há comprovação do uso também entre os indígenas. (CASCUDO, 2001). [10] Comunicador, 54 anos, Celso Brandão já foi Secretário de Cultura. É um incentivador da cultura afogadense. [11] Brincante, 40 anos, mestre na Arte das máscaras vive construindo o conhecimento sobre o folguedo afogadense. É um divulgador da cultura local e regional.
Acho que o ideal seria a gente falar sobre o que seria um mito, uma lenda, não sei. Que inicialmente começou este folguedo, essa brincadeira, quando, no tempo dos escravos, da escravatura os brancos, os filhos dos brancos, não eram permitidos brincar junto com os negros. Então o que é que eles fizeram. Os negros saíam batendo em atabaques9e eram chamados de Tabaqueiros por conta disso. Então os brancos se mascaravam e se fantasiavam para sair junto com os negros. (Celso Brandão10).
Mais uma vez a relação marcada pela hierarquia e pelo preconceito, no tempo da escravidão, é retomada e resignificada, no contexto da brincadeira carnavalesca. Como os Papangus de Bezerros, a relação entre os negros e brancos assinala uma teia construída no surgimento dos Tabaqueiros, no tempo-espaço da festa carnavalesca. Na busca por outras verdades, revividas na memória dos afogadenses, tive a oportunidade de conhecer o mestre Beijamim11, que se transformou em um companheiro precioso nessa jornada de descobertas. Naquela manhã ensolarada de outubro de 2010, ele me recebeu sorridente em sua residência: ali confessou que falar sobre os Tabaqueiros lhe era muito prazeroso. Até onde iam suas lembranças e cruzavam-se com as histórias contadas por parentes e amigos, ele teceu, detalhadamente, a manta de retalhos que retratava a origem dos mascarados da região. Comecei a falar sobre o depoimento de Dona Diná, uma antiga moradora que lembrava do medo que os filhos sentiam ao ver
[12] De origem africana o fruto da cabaceira tem diversos formatos e tamanhos, sendo utilizado como utensílio doméstico, como tigelas e pratos (CASCUDO, 2001).
os mascarados próximo ao rio Pajeú, com suas máscaras de cabaça12. O mestre Beijamim confirmou que os mascarados não eram conhecidos inicialmente como Tabaqueiros. “Na época da cabaça eu não alcancei não, mas já ouvi falar. No caso era o Papangu. Porque a tradição começou como Papangu”. E revelou as versões que conhecia sobre a origem do nome Tabaqueiro: Tem duas versões. A mais usada porque era assim. O mais antigo... a gente usava aquele chifrinho com o rapé dentro. Meu pai era usuário do rapé. O tabaco. E o dono do chifrinho era o Tabaqueiro. Era com uma tampinha de madeira, um chifrinho, e a gente oferecia. A gente levava do lado, como aquele que levava pólvora, só que a gente levava rapé. Como a gente oferecia... Com a máscara... A Capítulo 2- Rostos e Máscaras
119
gente chegava pro mais velho e oferecia. Não prá criançada, mas pro mais velho e oferecia. Eu cheguei a fazer isso. Meu pai usava o rapé e eu carregava o dele. (mestre Beijamim).
A relação entre o nome Tabaqueiro com o fumo é respaldada na [13] Fumo torrado, em pó.
própria vivência do mestre Beijamim. Como afirmou, ele mesmo participou da brincadeira da distribuição de pitadas de rapé13 com os amigos mais velhos. O utensílio usado para armazenar o rapé é muito conhecido no Nordeste pelo nome de tabaqueiro. É confeccionado a partir das extremidades de chifres de bois, cabras ou ovelhas. Oco, serve para guardar e transportar o pó, fechado por uma tampa em madeira talhada (Dig. 03). O tabaqueiro é também conhecido como cornimboque, popularmente currimboque. Pode transformar-se também como isqueiro rudimentar (CASCUDO, 2001). Currupio Zé Marcolino Ô Sivirina, Vá na barca da cangaia Traga a pedra, o fuzil E o meu cigarro de paia Corre menina, Vá depressa e chama o Roque Diga a ele que me traga Algodão pro currimboque.
O uso do rapé no interior sempre foi uma tradição. O fumo em pó armazenado dentro do tabaqueiro é colocado no nariz e exalado, provocando repetitivos espirros. A Feira de Caruaru. Onildo Almeida; Luiz Gonzaga. A Feira de Caruaru, Faz gosto a gente vê. De tudo que há no mundo, Nela tem pra vendê [...] Tem cesto, balaio, corda, Tamanco, gréia, tem cuêi-tatu, Tem fumo, tem tabaqueiro, Feito de chifre de boi zebu [...].
Ampliando essa questão, o pesquisador afogadense Fernando [14] Badzé ou Padzu, deus da floresta e do fumo
Pires ressalta que os índios Cariris, habitantes daquela região, plantavam tabaco e tinham Badzé 14 como seu deus do fumo. Capítulo 2- Rostos e Máscaras
120
Outra revelação de mestre Beijamim foi a analogia entre o nome Tabaqueiro com qualquer elemento feio, grotesco, que não tinha valor. “A outra era assim... eles diziam assim: „Eu tenho um relógio ruim. Meu relógio é um Tabaqueiro’. Então tudo que era feio e não prestava era um Tabaqueiro. Hoje é peba, é do Paraguai”. Observei, durante a pesquisa que, como o termo Tabaqueiro, a palavra Papangu também trazia toda essa carga pejorativa, uma referência a elementos desprovidos de atributos do Belo e do Bom. Da mesma forma apareceram em alguns depoimentos os termos Cariri, Caipora, Catirina, como figuras carentes de beleza, que usavam máscaras medonhas. Vale a pena destacar que nos diversos mitos de origem sobre os folguedos dos Papangus e dos Tabaqueiros, as máscaras instauraram sempre múltiplas possibilidades de existência individual e grupal e com elas, as teias, as tramas, as redes de relações comunais. As máscaras foram reveladoras, e marcaram a memória dos moradores (Fig 03 e 04; Dig 04). 2.1.3 Dos Papa-Angus aos Tabaqueiros: Papangus de Todos os Tempos Para que eu pudesse ter uma melhor compreensão sobre os mitos de origem dos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira, descritos anteriormente, fez-se necessário retroceder no tempo e seguir no além-mar aos territórios lusitanos. Sendo personagens tradicionais presentes nos rituais religiosos de Portugal, os farricocos seguiam à frente das procissões na Semana Santa. Na antiga cidade de Braga, situada na região do Minho, à Noroeste de Portugal, esses mascarados percorrem ainda hoje as ruas locais, com tochas nas mãos, descalços, com o corpo completamente encoberto por túnicas e capuzes a lhes encobrir as cabeças, tendo apenas os brilhantes olhos à mostra, através de pequenos orifícios. Como outras diversas tradições lusitanas essas figuras medonhas chegaram ao Brasil no período da colonização e perduram até hoje em algumas regiões do país. Em Goiás Velho, por exemplo, os Capítulo 2- Rostos e Máscaras
121
mascarados abrem os cortejos da Procissão do Fogaréu, representando a guarda romana, que participava da busca de Jesus e de sua execução. Câmara Cascudo (2001) assinala que nas antigas procissões das Cinzas organizadas em Olinda e Recife na quarta-feira carnavalesca estavam presentes figuras grotescas que lembravam os farricocos portugueses. Aqui eram conhecidos como Papangus. Utilizando escuras túnicas e capuzes brancos os mascarados seguiam com chicotes em punho, tocando trombetas e fazendo a proteção das alas do cortejo religioso. O autor esclarece que “os Papangus são os mascarados que enchem as ruas principais, embrulhados em lençóis cobertos de dominós ou disfarçados de todas as maneiras. Alguns já são tradicionais” (CASCUDO, 2001, p. 480). Gilberto Freire também observa a existência dessas figuras feias, que circulam em muitos municípios nordestinos e do sudeste. Assinala a presença dos mascarados com seus chicotes, que seguiam à frente das procissões, como um abre-alas para a passagem dos peregrinos religiosos, na Semana Santa, em meados do século XIX. “Na frente de tudo o papa-angu com uma espécie de saco por cima do corpo, dois buracos á altura dos olhos e chicotes à mão. E os muleques atirando-lhes pitomba” (FREIRE, 1977, p. 43). No processo de investigação percebi que existia sempre uma discussão em torno da originalidade das brincadeiras e dos mascarados nelas existentes. Quem chegou primeiro? Quem criou quem? Tal folguedo copiou elementos da brincadeira do “vizinho do lado”? Essas eram perguntas constantes que geravam disputas e conflitos, mas que serviram de reflexão para algo maior sobre a vida e transformação da Cultura da Tradição. Com muita sapiência o mestre Beijamim refletiu sobre essas questões: A gente não quer copiar. A gente tem uma origem que não sabe precisamente de onde veio. [...] se eles têm uma história a contar a gente tem outra... e outras vão surgir... É igual a formação do mundo: a religião dá uma e prova; ciência dá uma e prova. E como é que fica? Então eu não posso dizer assim... a gente copiou os Papangus de Bezerros, por que tem os Caiporas... e porque os Caiporas já se apresentam diferentes... Não dá! É uma cultura que poderia ser toda unificada e acaba tudo se separando. (mestre Beijamim).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
122
Zé Pedro, presidente da associação dos artesãos de Bezerros assinalou o desconhecimento de uma única origem para a brincadeira dos mascarados. “Quem inventou o Papangu eu acho que fica uma interrogação. Ninguém sabe.” Em Bezerros, em Afogados da Ingazeira e em tantos outros municípios de Pernambuco os feios Papangus estiveram presentes nos antigos Carnavais: nas ruas, nos sítios, nas residências, nos engenhos, com suas máscaras grotescas, espalhando o medo e a irreverência. Destaco que, mesmo que esse seja um fio condutor para a compreensão da origem das brincadeiras, em cada lugar os folguedos foram resignificados, o que lhes imprimiu marcas diferenciadas. Nesses anos de pesquisa observei que foram diversas as características similares e múltiplas as diferenciações entre as brincadeiras estudadas, o que permitiu, verdadeiramente, a descoberta de tesouros, jóias da Cultura da Tradição de valor incomensurável. Realmente não me interessei por desvendar verdades absolutas e únicas, mas interessou-me sempre registrar que as brincadeiras carnavalescas dos mascarados marcaram uma presença significativa no Estado de Pernambuco: as máscaras contaram uma história secular.
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
123
[Fig.01] Mestre Lula fantasiado, lembrando os Papangus nos primórdios da brincadeira. (Acervo Júlio Pontes).
[Fig. 02] Papangus nos anos 70. (Arcervo Prefeitura Bezerros).
[ Capítulo 2- Rostos e Máscaras
124
[Fig 03] Na máscara do antigo Papangu a Beleza do Feio (Acervo Júlio Pontes).
[Fig 04] Tabaqueiros do passado. (Acervo Edvaldo de Souza
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
125
No Museion, templo que abrigava as nove Musas inspiradoras da Arte e da Ciência, viviam Tália e Melpômene. Como representante da comédia, Tália, a festiva, seguia pelos espaços do templo segurando sempre uma máscara sorridente. Na cabeça uma coroa de folhas de hera e na outra mão um clarim, instrumento que lhe ajudava a ampliar a voz. Melpômene, a cantora, Musa da tragédia, também possuía uma máscara, porém com semblante taciturno. Na cabeça folhas de videira e como outros atributos a trompa musical e aos pés uma espada e um cedro. Tinha feições graves e sombrias. As duas máscaras, com características distintas, tornaram-se símbolo do teatro grego: comédia e tragédia configuram, desde então, a magia e o encanto da comicidade e a dramaticidade. Desde as festas em homenagem a Dionísio esse par de opostos segue, lado a lado, ajudando a existência das representações cênicas e servindo de modelo para as artes e para a vida (AQUINO, 2007).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
126
2.2 Máscaras: Magia e Mistério. Máscara é um termo repleto de significados, sentidos, indicações.
Tanto
corriqueiramente
aparece usados
com
pelo
o
senso
poder
dos
comum,
vocábulos
quanto
traz
entendimentos sutis e peculiares, conceitos trabalhados nas Artes, na História, nas Ciências Sociais. Cantado em prosa e verso, o termo aciona os diversos sentidos, despertando sentimentos. Depus a Máscara Álvaro Campos (Fernando Pessoa) Depus a máscara e vi-me ao espelho. Era a criança de há quantos anos. Não tinha mudado nada… É essa a vantagem de saber tirar a máscara. É-se sempre a criança, O passado que foi A criança. Depus a máscara, e tornei a pô-la. Assim é melhor, Assim sem a máscara. E volto à personalidade como a um términus de linha.
Segundo Pinharanda Gomes “o vocábulo máscara tem, nas línguas latinas, uma origem arábica, radicado no substantivo maskhara, que designava um momo, ou figura facial de cartão, destinada a obter um disfarce” (2005, p.09). Com o passar dos tempos, a cultura latina já usava o termo persona para identificar o objeto cênico, apreciado por crianças e adultos, em brincadeiras e jogos. Usada na comédia grega, anteriormente ao século IV a.C, o adereço era denominado de próssopou, derivado do próskê, que significava falsa aparência ou transformação de aparência. Na antiguidade grega a prossopa existia tanto como adereço cômico, para satirizar homens e personalidades inferiores, como também, posteriormente,
foi
usado
na
tragédia.
Nesta,
representava
personagens inferiores, tidos como ridículos: os opositores ou adversários dos heróis (GOMES, 2005). Outra finalidade da máscara era a de ampliar o som da voz permitindo que os atores fossem ouvidos de forma melhor. Acredito que, mais que um alto-falante, um ampliador da voz, a máscara pode ser pensada como algo que fala de si mesma aos outros, ou dos outros Capítulo 2- Rostos e Máscaras
127
eus existentes naquele que está por trás dela, que lhe serve de suporte e lhe empresta a voz. Importa-nos pensar também simbolicamente na máscara como esse instrumento amplificador, alto-falante de um discurso que, na verdade, ultrapassa o indivíduo que o pronuncia (MAFFESOLI, 2003). O termo persona remete, em Psicologia, a pessoa: ao que caracteriza cada indivíduo e sua relação com o mundo. Para Carl Jung significa um conjunto de conteúdos que formam o eu pessoal, sendo eles conscientes ou inconscientes. Nesta concepção junguiana seria o papel da pessoa nas relações com a cultura e com a sociedade: seu status social. Persona indica, neste contexto, as atitudes mostradas em relação aos outros nas diversas situações enfrentadas: o indivíduo na sua visibilidade (PIERI, 2002). A persona é tida como a máscara que serve de anteparo para que um indivíduo viva em relação com os outros, desempenhando os papéis sociais. A máscara seria uma forma como o sujeito se mostra ao mundo e pode ser mais próxima ou mais distante de um eu verdadeiro. Os valores éticos de cada cultura, as leis e códigos sociais são como a forma que molda a matéria plástica que constitui nossas máscaras. A identificação com a persona pode levar ao afastamento do eu, ou até perda da própria personalidade pelo desempenho do papel social. Jung utiliza o termo para designar, indiferentemente, um aspecto da personalidade, uma estrutura da psique, a imagem que o indivíduo mostra externamente. Persona seria, então, um dos aspectos mais exteriores do próprio indivíduo. Seguindo essa direção, Maffesoli indica que “no mais próximo de sua etimologia, persona representa papéis múltiplos sob diversas máscaras, que expressam a pluralidade complexa de cada um” (2003, p. 97). Para o autor, cada pessoa não é senão uma máscara (persona) e pontualmente representa os papéis que formam um conjunto e que possibilita que assuma figuras diversas. No campo semântico há uma multiplicidade de sentidos. A máscara - vista como um artefato confeccionado em diversos materiais - é usada no teatro ou em rituais. Capítulo 2- Rostos e Máscaras
128
O uso ritual revela sua vocação mediadora, fazendo comunicar domínios antes considerados separados, como vivos e mortos, homens e divindades, céu e terra, visível e invisível, natureza e cultura, e assim por diante. (BITTER, 2010, p.200).
Nesse sentido, a máscara é preciosa para aqueles que detectam os poderes mágicos, magos e feiticeiros, servindo-lhes de instrumento ritual. Sob múltiplas variáveis pode se apresentar como disfarce ou maquiagem e também creme ou pasta usados em cuidados estéticos. Ampliando a abrangência indica aparelhos para proteção ou outras finalidades, como as máscaras contra gases, as máscaras submarinas e as máscaras de anestesia. Em outro contexto, ser mascarado, não está atrelado a usar um utensílio cênico ou ritual, ou ao uso da pintura que permita o encobrimento da face. O indivíduo que é reconhecido como “mascarado” possui atitudes que lhe imprimem uma marca de caráter indicativo de dissimulação, falta de verdade, falsa aparência ou personalidade dúbia. Ainda de forma pejorativa, quando se faz referência a alguém como “aquele é um máscara”, tem-se logo uma imagem de um indivíduo muito feio e ou possuidor de fisionomia grotesca. Com sentidos metonímicos e metafóricos que ampliam seu universo aplicativo, acionando-lhe diferentes interpretações, a máscara é usada por poetas e cantadores. Desmascarar indica mostrar a realidade que se esconde e a máscara aciona referências à falsidade, à dissimulação. A metáfora da máscara está atrelada à teatralização, à duplicidade de papéis, ao mistério, ao anonimato, ao ser e não ser, ao não dito. De todas as funções que se atribuem à máscara (proteção, manifestação de uma presença do além, participação de uma casta privilegiada, instrumento de dominação pelo temor ou identificação a forças incontroladas), não se pode esquecer aquela que diz respeito à intercomunicação. A máscara indica uma pessoa que não existe, por intermédio de outra que existe. No entanto, uma tal não-existência se concretiza através do jogo daquela que existe. (DUVIGNAUD, 1983, p. 90). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
129
Acredito que, com vida própria esse objeto ajuda os seus usuários a afrontarem o destino, tornando-se outro. O homem se metamorfoseia usando-a como escudo, vivendo uma existência efêmera, transitória. Em diferentes contextos o mascaramento torna o indivíduo diferente, belo ou medonho, intimidando os assistentes que ficam deslumbrados com a visão de sua nova face, coagindo-os a afastar-se ou aproximar-se, dependendo do medo ou do encanto. A máscara gera uma espécie de pudor, de magia em torno do desconhecido. “O pudor existe em toda parte onde há um „mistério‟” (NIETZSCHE, 2006, p. 85). Por todo esse conjunto de características e funcionalidades as máscaras são um precioso instrumento de representação do imaginário do homem, suscitando sentimentos e pulsões individuais e coletivos. [1] Vide Capítulo 04.
Dentre tantas formas de ser e de revelar-se a máscara desperta sempre o sentimento de curiosidade, pois está atrelada ao segredo1. Levi-Strauss (2003) reitera a importância das máscaras para diversos povos, onde desempenham considerável papel para se encarnar um ancestral, usado na luta dos prestígios, na rivalidade das hierarquias, na concorrência dos privilígios sociais e econômicos. Representando
entidades
da
natureza,
personagens
mitológicas, animais multiformes, seres antropomórficos, figuras caricaturais, as máscaras são capazes de traduzir a essência humana, expressando sentimentos como medo, poder, satisfação, sensibilidade, alegria, vaidade, orgulho, curiosidade, ajudando-nos no enfrentamento dos elementos concretos de nossa existência. Conhecer e caracterizar de uma forma geral as máscaras usadas nas representações populares é uma possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre os habitantes dos lugares e as relações que permeiam as brincadeiras da Cultura da Tradição. Os brincantes bebem dessa fonte inesgotável, copiando, imitando, modificando, movimentando, construindo conhecimento.
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
130
2.2.1 Objeto: Quase- Sujeito Misturamos, sem o menor pudor, nossos desejos com as coisas, o sentido com o social, o coletivo com as narrativas. A partir do momento em que seguimos de perto qualquer quase-objeto, este nos aparece algumas vezes como coisa, outras como narrativa, outras ainda como laço social, sem nunca reduzir-se a um simples ente. (LATOUR, 2009, p. 87)
Durante o trabalho de Mestrado, ao percorrer as largas estradas e estreitos caminhos traçados na pesquisa, detectei que a máscara não podia ser apreendida apenas como um simples objeto concebido como um utensílio inanimado: algo a ser usado e depois desprezado ou descartado. Estudando os Caretas de Triunfo vi quão importante era esse elemento em relação a todo o universo que cercava o folguedo. Ao adentrar mais e mais nos labirintos do campo e tecer um diálogo próximo com estudiosos que visualizavam a relevância dos objetos para a existência individual e comunal, pude vislumbrar novos horizontes e descobrir outros itinerários a serem percorridos em [2] Essa é uma perspectiva da Antropologia da Ciência e das Técnicas, defendida por Bruno Latour e seus seguidores, que algumas vezes referem-se também as coisas como nãohumanos ou quaseobjetos.
relação a uma importante reflexão: porque não compreender os objetos, e no caso especifico a máscara, como quase-sujeitos2? Importantes estudiosos já reconheciam a riqueza presente nos objetos que nos cercam. A partir de uma extensa pesquisa etnográfica Marcel Mauss (2003a) abordou sobre o valor dos objetos para diversas culturas. Na Malanésia, por exemplo, um objeto qualquer era considerado sagrado. em função da qualidade a ele atribuída; era reconhecido como portador de mana. Sendo uma construção social, mana qualificava coisas e ações, dando-lhes, força e eficácia. Assim, os objetos poderiam ser possuidores de poderes mágicos e sagrados. Friedrich Nietzsche destacou a essência do valor dos objetos, ao escrever sobre os livros e sua vitalidade: uma existência independente da imortalidade de seus autores. Observou que todo escritor surpreende-se ao perceber que seu livro continua a viver uma vida própria, independente dele. “[...] O livro procura seus leitores, desperta vidas, torna feliz, assusta, produz novas obras, torna-se alma Capítulo 2- Rostos e Máscaras
131
de projetos e de ações – numa palavra, vive como um ser dotado de espírito e de alma e, no entanto, não é um ser humano” (2006, p.172). Como esclarece o filósofo, os humanos e os objetos que os cercam e todas as ações, decisões, pensamentos e coisas que permeiam as relações da humanidade, se entrelaçam em um movimento repleto de imortalidade. Enfatiza que “aquilo que foi uma vez posto em movimento está na cadeia global de todo ser, como um inseto encerrado e eternizado no âmbar” (NIETZSCHE, 2006, p.172). É preciso, portanto, pensar exatamente nesse movimento que cerca os seres, os objetos, a vida e o contexto no qual todos estão inseridos. O filósofo e poeta Jean-Marie Guyau, anuncia que “os objetos que chamamos de inanimados estão muito mais vivos que as abstrações da ciência... nos interessam, nos comovem, nos fazem simpatizar com eles” (GUYAU, 1920, p.14, apud MAFFESOLI, 2003, p.181). Assim, possibilitam uma harmonia entre os homens e o mundo, reduzindo a hostilidade que nos rodeia. O mundo “objetal” é formado e povoado por esses seres que têm alma e animam a vida como um todo. Gilbert Durand, por sua vez, nos faz pensar no “trajeto antropológico” e no quanto os objetos são “transicionais”. Eles negociam, intervém e suavizam o mundo que nos cerca (apud MAFFESOLI,
2003)
Ampliando
essa
reflexão
Maffesoli
é
contundente quando afirma que: A tradição ocidental, sabemos, baseia-se na separação, no corte. E conhecemos as múltiplas formas de dicotomia que a marcaram. [...] Eis bem o resumo emblemático dessa sensibilidade que distancia, que distingue, por um lado, as pessoas entre si, e por outro, as pessoas e as coisas. (MAFFESOLI, 2003, p. 173).
Enfatiza a importância de não trabalharmos a cisão naturezacultura e de quebrarmos com esse vale construído pelo homem. Numa
perspectiva
dialógica
com
os
pensadores
da
Antropologia das Ciências e das Técnicas pude visualizar ainda melhor a grandeza de pensarmos nos objetos dentro de toda sua magnitude, consequentemente, formular questões tão caras às Ciências Sociais. No direcionamento teórico-metodológica desse campo de Capítulo 2- Rostos e Máscaras
132
estudos, os humanos e não-humanos vivem uma relação simétrica, na [3] Fazendo uma ponte transdisciplinar com a área gráfica- pela minha formação como arquiteta, professora de desenho e de design -visualizei que uma figura simétrica é formada levando-se em conta um eixo que a divide em duas partes: uma apresenta-se espelhada em relação à outra a partir desse eixo. Embora guardem características comuns, as partes espelhadas têm particularidades próprias: são semelhantes, mas não iguais. Semelhança e diferença são, neste itinerário, elementos essenciais de entendimento e ajuda-nos a pensar na simetria explicitada no contexto antropológico seguido por Latour.
qual há o abandono de entraves construídos por condutas hierárquicas, excludentes e etnocêntricas. Assim, a simetria3 é uma importante categoria trabalhada por Bruno Latour e seus seguidores, que tentam romper com as dicotomias, sem eliminar as diferenças. As dicotomias devem ser entendidas não uma em detrimento à outra, mas como um duplo que possui semelhanças e diferenças e cujas características precisam ser respeitadas nos mais diversos contextos. Essas paridades e distinções servem como parâmetro para reflexões, questionamentos,
inquietações,
e
consequentemente,
para
a
construção do conhecimento4. Buscar uma simetria não é reduzir humanos e não humanos a uma igualdade. Cada qual guarda suas características e peculiaridades. É, antes de tudo, não partir de uma assimetria que tolhe e separa, pois diferença não é divisão ou separação (LATOUR, 2012). Seguindo esse pensamento, Bruno Latour (1997) sinaliza que os objetos são híbridos de natureza e cultura, tendo uma real importância para a produção de fatos, discursos, conceitos e contextos. Ampliando a reflexão sobre a importância dos objetos Fátima Branquinho (2007), observa que as ervas medicinais podem ser entendidas como quase-sujeitos. Prossegue as pesquisas conduzidas no campo da Antropologia das Ciências e das Técnicas desenvolvendo uma etnografia da cerâmica, revelando o valor desse elemento para a construção do conhecimento dos ceramistas e do universo que os envolve (BRANQUINHO et al, 2011). Todos esses trabalhos reiteram que os objetos, técnicos e/ou
[4] A produção do conhecimento é um aspecto dos mais caros para a Antropologia das Ciências e das Técnicas: o conhecimento construído por vários atores e não apenas pelos cientistas, confinados nas paredes dos laboratórios. (LATOUR; WOOLGAR 1997).
científicos, interferem no cotidiano, possibilitando mudanças no comportamento coletivo: são capazes de alterar a sociedade de que fazem parte. Assim, eles interagem conosco, como co-participantes da fabricação da sociedade, à medida que também são fabricados. Quando escolhemos considerar que a capacidade de agir pode ser uma prerrogativa não só do sujeito que conhece, mas também do objeto conhecido, de algum modo permitimo-nos iniciar um movimento inverso no sentido de superar a noção da hierarquia entre os saberes (e entre as sociedades) (BRANQUINHO; SANTOS, 2007, p. 111). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
133
Como esclarecem as autoras, o reconhecimento de que esses objetos são híbridos, não implica necessariamente de abrirmos mão daquilo que os sujeitos são ou fazem, mas permite o discernimento da pluralidade do mundo, enquanto povoado por humanos e nãohumanos, cada qual com sua importância. “O objeto é dotado de atividade por sua capacidade de alterar a realidade tal como faz o sujeito” (BRANQUINHO; SANTOS, 2007, p.115). Os indivíduos [5] Consideram-se as redes sociotécnicas como locus de produção de conhecimento sobre a realidade por autores/atores humanos ou não-humanos (BRANQUINHO, et al, 2011). Essa questão será melhor explicitada no Capítulo 08.
produzem os objetos, mas também são produzidos por eles, num constante processo de troca, numa edificação fascinante de aprendizagens e ensinamentos que formatam os coletivos: as redes sociotécnicas5 Essa visão epistemológica extrapola um sentido democrático de construir a sociedade, sendo, mais que isso: dita uma forma diplomática6 de ser. A diplomacia exige habilidade, sensibilidade,
[6] Nos termos de Latour, o diplomata busca o mundo comum: o do acordo dos espíritos, do bom senso, dos fatos, da natureza e do common knowledge: faz uma triagem do melhor dos mundos possíveis. (LATOUR, 2004)
cortesia, elegância, ponderação, sensatez. Aceitar que os objetos são parte da humanidade do indivíduo é efetivamente um exercício de diplomacia. Creio que essa é uma perspectiva que quebra com muitas posturas hierarquizantes em relação à forma de ver o mundo e se ver no mundo. Nesse sentido, exercita-se uma conduta nos moldes da simetria, compreendendo que “a postura simétrica nos permite assumir que a nossa sociedade científica e técnica é ao mesmo tempo diferente e igual às demais” (BRANQUINHO; SANTOS, 2007, p.115). Compartilhando com a ideia de que os objetos técnicos e/ou científicos, quase-sujeitos, falam, agem e interferem na realidade dos sujeitos, devendo ser reconhecidos pela influência que têm em nossas vidas, passei a desenvolver também uma etnografia das máscaras dos folguedos da tradição pernambucana. Compreendi que no universo das brincadeiras dos mascarados os humanos e não-humanos conectam-se formando uma grande teia, que pode ser entendida como uma rede sociotécnica. Os elementos presentes e a forma como estão inseridos nessa teia de múltiplos filamentos possibilitaram uma visão do particular, do local: de cada folguedo estudado, de cada ateliê visitado. No entanto, essa percepção pode ser ampliada para uma visão ad infinitum, pois na concepção em Capítulo 2- Rostos e Máscaras
134
rede podemos nos deslocar do particular para o geral; do local ao universal: um conhecimento multiplicado em progressão geométrica. Assim: [...] ao nos debruçarmos sobre um só artista ou um só cientista, e seus respectivos objetos de estudos e produções, estamos estudando - simultaneamente - um conjunto de artistas e cientistas que se volta para interesses semelhantes, assim como todo um universo de controvérsias que atravessam suas atividades e produções. (NOGUEIRA, 2011).
Na perspectiva ator-rede, observando os elementos não de forma isolada, estanque, mas a partir das relações que estabelecem, do contexto no qual estão inseridos, detectei que as máscaras narravam uma história construída, porém sem calar os sujeitos que, através delas, viviam essa história. Como narradoras elas eram porta-vozes dos personagens dos folguedos da Cultura da Tradição. Como seres animados elas próprias vivenciavam as brincadeiras, como os brincantes que as usavam.
[7] Artesão-artista e brincante, 27 anos, Murilo possui ateliê em Bezerros e faz um valioso trabalho de divulgação das máscaras dos Papangus.
Na verdade quando eu comecei a trabalhar com elas eu acho que tinha uma atração, pelo fascínio, pelo mistério, que a máscara tem [...] Eu acho que ela tem vida própria. Por que ela cria isso nas pessoas... As pessoas ficam curiosas. Elas não têm sexo. Você não sabe se ali por baixo tem um homem, tem uma mulher. Ela tem expressão. Às vezes você faz uma máscara sorrindo, mas ali por dentro, quem tá usando está cansado, tá triste, mas aquela máscara tá ali, sorrindo, tá? Ela tem vida própria. Ela tem expressão própria. E aquilo ali transparece para as pessoas que estão vendo. (Murilo Albuquerque7).
Murilo afirma que as máscaras dos Papangus têm vida própria. Elas suscitam sentimentos e fazem com que as pessoas as percebam como um sujeito, personagem, que dialoga com o mundo a partir de sua expressão: face de papel repleta de vida. Seriam elas tão importantes quanto os sujeitos inseridos no contexto das brincadeiras? Eu acho que sim. Eu acho que sim... Como eu falei... quando a gente faz a máscara ela tem uma forma que faz com que cada uma tenha um formato básico, igual, mas cada uma é diferente. Às vezes eu tenho até dificuldade de fazê-las iguais, quando é necessário [...] cada uma vai ter o seu diferencial, vai ter uma vida própria. Isso é legal. As pessoas olham para as máscaras e vêem... cada um vê de maneira diferente.[...] A partir do momento que cada pessoa tem uma visão a respeito daquela máscara, tem Capítulo 2- Rostos e Máscaras
135
uma opinião diferente eu acho que ela... assim como nós passamos impressões diferentes para as pessoas, a máscara, a arte, também passa. Então eu acho que ela tem vida própria. [...] Por mais que ela não esteja sendo usada, esteja numa parede, mas ela passa alguma coisa, passa uma expressão. (Murilo Albuquerque).
Muitos ressaltam o quanto a presença da máscara é marcante. Ela comunica, se expressa, diz algo, conta histórias, tem uma ação: fala. “Tem vida. A máscara tem vida, porque a vida é uma história, né? [8] Presidente da Associação dos Artesãos de Bezerros – AAB.
De cada artista que faz esse trabalho. Aí eu considero que a máscara ela tem vida” (Zé Pedro8). Cabe aqui iniciar uma reflexão sobre a relação sujeito-objeto que se processa no âmbito dos folguedos. Latour chama a atenção para o equívoco presente se analisarmos os indivíduos e os objetos separadamente e de forma fixa. Para ele “quando as proposições são articuladas, elas se juntam numa proposição nova. Tornam-se „algúem, alguma coisa‟ mais.” (2001, p. 207). No momento em que sujeito e objeto unem-se na ação do mascaramento há o estabelecimento de uma relação simétrica, onde cada uma das partes sofre interferência da outra. Nesse sentido, o sujeito tem uma outra vida e a máscara também: a partir no encontro dos dois um novo ator máscara-brincante
[9] Os mediadores são diferentes dos intermediários. “Um intermediário, em meu léxico, é aquilo que transporta significado ou força sem transformá-los: definir o que entra já define o que sai”. (LATOUR, 2012, p. 65). O autor os reconhece como caixa-preta: unidades fechadas. Os mediadores, por sua vez, são transformadores, atuantes, não passivos: objetos ou sujeitos dotados de ação. Mediador é um ator em movimento. Ele é performático.
passa a existir. Assim, visualizei a máscara como um mediador9, pelo seu poder de atuação. Os mediadores “transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam.” (LATOUR, 2012, p. 65). Embora possa parecer simples, o mediador é complexo, multifacetado e tende a arrastar-nos em muitas direções, seguindo os relatos contraditórios atribuídos a seu papel. A máscara é arte; a máscara é técnica: ela pode falar dos grupos na qual está inserida, [...] pois toda técnica espelha, em um contexto particular, a complexa organização social (BRANQUINHO, 2011, p.19). Ela é resultado de uma elaboração que permeia um instável equilíbrio entre a intuição e a racionalidade, a criatividade e a sensibilidade. Por conseguinte, nada mais coerente que observá-la como expressão da cultura dos grupos, compreendendo-a como resultado da inscrição nos dois itinerários: o mítico-mágico-simbólico e o Capítulo 2- Rostos e Máscaras
136
empírico-lógico-racional (MORIN, 2005a). Seguindo esse fio condutor foquei o meu olhar nas máscaras e todo o tecido formado em torno de sua vida: brincantes, artistas, artesãos, mestres, aprendizes, ateliês, pontos comerciais, propaganda midiática, turistas, instituições governamentais: toda essa rede e cada filamento que o constituía tinha relevância, sendo elementos reveladores. 2.2.2 Vida nos Ateliês: Construindo Saberes e Fazeres Trata-se de reconstituir o indivíduo subjetivo presente nas expressões da tradição; ou seja, da recusa em compactuar com o anonimato que ao longo do tempo teima em diluir a autoria em um agrupamento étnico e/ou em uma coletividade. A contextualização dos sujeitos das narrativas – sua valorização enquanto sujeitos criativos – permite dissociá-los de qualificações como „primitivo‟ ou „atrasado‟, ao mesmo tempo em que reconhece sua criatividade e a complexidade de suas organizações e de seus modos de vida. (AMORIM, NOGUEIRA, COSTA, 2010, p. 132).
Acredito ser necessário compreender o tempo não como uma linha contínua, formada por uma sucessão de episódios que desenham o ontem, o hoje e o amanhã. Prefiro pensar nele com traçado, uma forma espiralada, marcada por elementos que se repetem sem indicar, com isso, igualdade plena. Os acontecimentos, eventos e ações que acontecem, de tempos em tempos, guardam uma essência comum, mas diferenciam-se entre si pela supressão ou adição de fundamentos, [10] Abaixo um esboço de minha concepção dos acontecimentos que marcam a linha espiralada do tempo.
noções, princípios que lhes são caros10. Melhor explicitando esse pensamento reflito sobre os diversos momentos da linha espiralada do tempo em que foi teorizada a questão da relação do homem com o conhecimento, a verdade, a sapiência. O Mito da Caverna (PLATÃO, 2002) pode ser um ponto de partida para assinalarmos essa trajetória marcada por similitudes e diversidades e que nos levam a teorizar sobre Conhecimento, Ciência e Arte. Platão fala sobre a condição dos humanos, presos em uma caverna escura, subterrânea, que veem, refletidos nas paredes sombrias, apenas vultos de pessoas e coisas que se movimentavam Capítulo 2- Rostos e Máscaras
137
fora dali. Esses vultos, sombras, imagens fantasmagóricas, que se formavam e desapareciam, representavam a realidade exterior, vista pelos homens, que, dominados pela ignorância, tinham-na como verdade. Caso algum desses homens escapasse da caverna ficaria temporariamente sem nada enxergar, encandeado pela luminosidade intensa de Hélio, deus do Sol na mitologia grega. Após um período de adaptação, veriam a verdadeira imagem das coisas, que se apresentariam completamente diferentes das sombras antes vistas no mundo subterrâneo da ignorância, conhecido como agnóia. Alí, a Ciência, gnose e o Conhecimento, espiteme, trariam as verdades necessárias à formação humana. As verdades produzidas pelos homens dentro das cavernas seriam aquelas do senso comum, tidas como falsas verdades pelos que viviam fora da caverna: os filósofos, os sábios. Pensadores, filósofos, estudiosos continuaram pontuando suas teorias na trajetória da espiral do tempo, pautadas em paradigmas que ditavam que o conhecimento científico, a Arte erudita, os saberes sistematizados, possilitavam o acesso à verdade, a abertura para a luz, o afastamento da cegueira causada pela ignorância e ilusão. O Mito da Caverna foi assim reiterado constantemente, reificado, ampliado, fortalecido, desde a Antiguidade até que chegássemos aos paradigmas hegemônicos da modernidade. Mais uma vez o tempo foi testemunha da consolidação dessas verdades que direcionaram o pensamento ocidental, respaldando o modelo hegemônico que apostava na disjunção dos saberes, na supremacia
do
conhecimento
científico
em
detrimento
ao
reconhecimento da legitimidade de outros saberes e práticas produzidas no senso comum. A busca da verdade sob a ótica de conhecimentos que pregaram a dicotomia entre natureza e cultura, espírito e matéria, sujeito e objeto produziu apagamentos e subalternidades de fazeres e saberes tão legítimos quanto o conhecimento científico. E assim, houve toda uma apologia ao pensamento domesticado, que se deixou restringir pelas tiranias dos conceitos. Segundo Lévi-Strauss (1989), Capítulo 2- Rostos e Máscaras
138
torna-se necessário e urgente procurar atingir o cosmos, apreender a totalidade das coisas a partir do sensível e não pelas apreensões frias do racional: perceber os elementos aquém e além do real. Platão plantou as primeiras sementes para que cultivássemos a noção da verdade sobre a realidade: obtê-la seria possível a partir do saber científico. A Ciência, seguindo esse itinerário, assumiu um patamar diferenciado na escada da hierarquia dos saberes. Hoje tornase essencial, no entanto, reconhecer que objetos e conceitos científicos precisam possuir o mesmo estatuto ontológico e valor social que os objetos e conceitos de culturas que não possuem a Ciência como instrumento de leitura do mundo. Assim, reconhecer a importância de outros
saberes
e
fazeres,
produzidos
pela
construção
de
conhecimentos pautados num ensinamento cotidiano e empírico. Acreditar que É na relação com o ambiente que o ser humano constrói e acumula informações que lhe possibilitam satisfazer suas necessidades, engendrando soluções, resolvendo problemas, compartilhando valores com outros e construindo “coletivos” – híbridos de natureza e cultura. Desse modo, a sociedade constrói conhecimento e realidade. (BRANQUINHO, 2007, p.47).
Há, portanto, necessidade de se reconhecer os outros modos de conhecer, dialogando com as formas de conhecimento distintas de uma tradição objetivista e racionalista da Ciência, demarcada pelo pensamento cartesiano. Resgatar, portanto, instâncias de produção de ideias que através dos séculos foram desconsideradas, subalternizadas, colonizadas e até apagadas como uma forma possível de educação. Reconhecer que os fios que possibilitam uma tessitura entre o mundo criado e o vivido alinham juntos o imaginário e a realidade, o pensamento mítico e o lógico, as aprendizagens empíricas e as sistematizadas, dando-lhes um valor diferenciado. Assim, ir em busca da superação dos abismos dualistas que foram estabelecidos na modernidade: entre natureza e cultura; sujeito e objeto; fatos e valores. (BRANQUINHO, 2012). Da mesma forma que a Ciência, a Arte também se encontrou interceptada por esses elementos tão importantes para uma Capítulo 2- Rostos e Máscaras
139
contundente reflexão sobre o tipo de conhecimento produzido nesse campo. A Arte dita popular era vivida intensivamente, pautada em uma aprendizagem tecida pelos fios do vivido, do transmitido entre pais e filhos, mestres e discípulos. Em contrapartica a Arte, reconhecida
como
erudita,
atrelava-se
a
um
conhecimento
diferenciado, produzido por uma camada privilegiada de intelectuais, com amplo acesso a uma educação sistematizada, institucionalizada. Trago todas essas questões para pensar no movimento que envolveu o Conhecimento, a Ciência, a Arte e, de forma direcionada, a Arte das máscaras, objeto de minha investigação. O tempo foi testemunha
dessa
tensão
que
abraçou
distintos paradigmas.
Questionando-os, passo a tecer a manta do (re)conhecimento sobre a importância desse trabalho milenar da Arte das máscaras. É importante notar que [...] controvérsias sobre o entendimento a respeito de certo objeto atraem atores e constroem espaços, criando zonas que favorecem ao desenvolvimento de um campo disciplinar, produtor de conhecimento científico e técnico sobre a realidade (BRANQUINHO et al, 2011) [11] Gostaria de destacar que, o interesse do uso da Teoria do ator-rede para compreensão de uma realidade particular está ligado principalmente a existência de um problema ao mesmo tempo científico e ético. No nosso estudo a controvérsia sobre o que é arte é um ponto importante para um diálogo com esse campo de investigação.
A pergunta isso é Arte?11, nunca deixou de ressoar. Essa é uma questão controversa, que nunca deixa de ressoar. Tão antigo quanto esse questionamento é a necessidade humana de entender o mundo que o cerca e de marcar sua presença no mundo. Para muitos críticos essa pergunta não cabe mais, pela multiplicidade de suportes expressivos os quais transcendem o corpo, as tintas, as telas, os instrumentos musicais, e até as tecnologias. (NECKEL, 2009). A arte é a fala do homem em seus mais diversos suportes: na visualidade, na sonoridade, na gestualidade e na escrita. São meios de o homem falar de si e dos outros, na história. Assim, se quisermos saber o que é arte, precisamos saber o que é o homem em seu movimentar-se na história. (NECKEL, 2009).
A Arte das máscaras tatuou o tempo, o homem e as culturas. Desde os primórdios da existência do homo-sapiens-sapiens os objetos fizeram parte integrante de uma vida edificada coletivamente e, dentre eles, a máscara marcou presença. Em torno das fogueiras, nos ritos Capítulo 2- Rostos e Máscaras
140
grupais, o homem mascarava-se. “A máscara é de uso universal, e sua origem não pode ser calculada no tempo” (CASCUDO, 2001, p. 370). Ajudando o homem a integrar-se à natureza, numa perspectiva de enfrentamento, a máscara ampliava-lhe a sensação de poder e, com ele, a coragem para superação dos temores. Nas danças e festividades ali estava ela, como adereço indispensável. Em encenações, era uma concreta possibilidade de criar personagens, escondendo rostos e multiplicando faces. Na Antiguidade, transformou-se em símbolo do teatro, revelando a comicidade e o trágico. Na Idade Média fez-se presente nas festividades e comemorações nas ruas, praças e palácios, cerzindo com fios de encantamento o sagrado e o profano. Ora como disfarce, ora como ornamento, esse quase-sujeito seguiu até os nossos dias, lado a lado com os indivíduos, povos, sociedades e culturas. Em cada folguedo que a utilizava mostrava-se como essência, tesouro, fluido que fazia viver e reviver as brincadeiras da tradição. Como tantas outras artes milenares, a execução das máscaras exigiu sempre a apropriação de técnicas, mas não apenas isso. Estava igualmente ligada às questões utilitárias e funcionais, mas também não se encontrava restrita a esses domínios. Nesse cosmos houve sempre uma ciência permeando a produção de um conhecimento construído através do vivido. Creio que a relação entre criador e criatura excede o ato primoroso da manipulação, do savoir faire, das seleções e do resultado obtido através de um conjunto de escolhas e tarefas. Elementos como [12] A teoria ator-rede deixa o campo falar. Segue os caminhos escritos não apenas pelos conceitos, palavras ditas, verdades reconhecidas, mas visualizando os rastros, como essas verdades estão inseridas, o mundo no qual ganham corpo e transformam-se em ação. Torna-se necessário, portanto, observar os sujeitos e quase-sujeitos a partir das relações com o mundo e não abandonar as controvérsias que as envolvem.
simetria, ritmo, regularidade, repetição, combinação de cores e formas e adoções de motivos não ficam submissos aos aspectos puramente técnicos e estéticos. Todo esse conjunto está atrelado à emoção e aos sentimentos, aos sentidos e significados, que envolvem os artesãosartistas criadores, os indivíduos e grupos de usuários e, de forma significativa, esses quase-sujeitos que circulam e se movimentam. Nesse sentido a máscara é construtora de conceitos e formam os coletivos ao lado dos humanos (LATOUR, 2012)12. Eu acho que a máscara é um dos principais itens do Papangu, porque ela é quem vai definir um pouco de sua personalidade. Porque tem isso também. Cada um leva no desenho de sua máscara um pouco de você. Murilo Capítulo 2- Rostos e Máscaras
141
[13] Brincante e também artesã-artista de suas próprias fantasias. Vencedora de muitos Concursos dos Papangus Marília revela seu fascínio em relação à folia dos mascarados.
leva um pouco da característica dele, eu levo da minha, Robeval leva da dele. Então apesar de ser uma coisa para a gente se esconder, mas existe uma característica nossa no perfil da máscara. (Marília Gabriela de Souza13).
Mais do que simples objetos devemos pensar que as máscaras carregam uma humanidade, que é fruto dessa relação com quem as executa, com quem as usa e também com aqueles que as observam. Para que haja a construção social os não humanos têm que desempenhar
um
papel
significativo
e
serem
reconhecidos,
percebendo-se as associações entre eles e humanos (LATOUR, 2012). Sentimentos são assim suscitados, pelo jogo de relações que cercam essa dinâmica. Devemos visualizar os objetos, levá-los em conta, perceber seus traços, ingressá-los nos relatos, perseguir seus rastros. Desta
forma
estaremos
compreendendo
os
incontestáveis
entrelaçamentos entre sujeitos e quase-sujeitos. Como tão bem observa Lévi-Strauss (1989), toda arte é um operador do pensamento, um terreno fértil para entendermos como a mente humana opera: a arte é boa para pensar. Dentro de sua tridimensionalidade, ela é ao mesmo tempo utilitária, funcional e sobrenatural. Precisamos conhecer e compreender os objetos a partir dessa totalidade. Nesse sentido, a máscara não é apenas um artefato útil para a viabilização do anonimato, para a funcionalidade da dissimulação. Ela realiza a ligação entre os dois mundos, o terreno e o sagrado, o terrestre e o divino, o domesticado e o selvagem, o racional e o sobrenatural. Ajuda-nos a realizar nossos sonhos dentro do universo real e imaginário; abre portas e janelas para a luz da imaginação; nos faz outro e nós mesmos, num jogo de beleza, magia e sedução. Em diversas situações, muitas pessoas que usam as máscaras ou as vêem, “consideram-nas entidades independentes, suscetíveis de ação e reação pelos poderes acumulados (CASCUDO, 2001, p.371) (Dig 01). Berta Ribeiro observa que as máscaras dos índios brasileiros, inseridas no contexto mágico-religioso, representam figuras de antepassados, espíritos protetores de nossas florestas, da fauna e da natureza. Elas têm o poder de recolher e exprimir as forças tanto Capítulo 2- Rostos e Máscaras
142
benignas, quanto malignas espalhadas no universo indígena. São estátuas que, ao som da música e ao ritmo da dança, ganham vida e movimento. Constituem, portanto, o aspecto dinâmico dos rituais mágico-religiosos. E através delas que se manifestam e se tornam presentes os espíritos ancestrais e dos heróis culturais. Na dança, seu portador começa a representar o papel do espírito cuja máscara ostenta, para assim transmitir sua mensagem. (RIBEIRO, p. 142, 2000).
A máscara pode ser entendida como um exemplo de [14] Micea Eliade (1992) eluscida que a hierofania compreende tudo o que revela e manifesta o sagrado. Uma pedra, por exemplo, pode ser considerado um objeto consagrado.
hierofania14, objeto que passa a ser uma manifestação do sagrado, ou melhor, o próprio sagrado manifesto. Assim, o objeto é ele mesmo, por participar do seu mundo cósmico envolvente e também algo a mais, uma outra coisa (ELIADE, 1992). O sacro revela-se ao mesmo tempo como poder, eficiência, fonte de vida e de fecundidade: tudo isso é veiculado pelo mascaramento. A ligação das máscaras com o universo sagrado é algo presente nos mais distantes lugares do mundo. Na tradição de Bali, ilha da Indonésia, os habitantes se mostram fiés às tradições, que dão sentido a suas vidas. As crenças religiosas são criadas para ajudar os deuses a aplacar os demônios do reino dos espíritos. A vida para os balineses é uma dança de devoção e segundo eles, sem a Arte as pessoas não seriam normais. A Arte das máscaras é sagrada, ajuda a encontrar o equilíbrio entre os homens, os deuses e os poderes demoníacos: para os balineses a máscara tem alma, tem espírito (BALI, 1990). A máscara é criação e criatura. E quem a cria? Artesãos? Artistas? Mestres? Aprendizes? Cientistas? Pessoas com uma formação acadêmica ou aprendizagem empírica? Acredito que, para melhor refletir sobre essas importantes questões faz-se necessário pensar no diálogo tecido entre artistas populares e eruditos, observando o campo da Arte das máscaras: sempre uma trajetória pontuada na linha espiralada do tempo. É muito antiga essa discussão em torno dos campos de atuação dos artistas e artesãos e da produção do que seria Arte ou Artesanato. Mais uma vez as controvérsias se apresentam e permitem que reflexões sejam suscitadas. No universo semântico, o sentido atribuído ao artista está Capítulo 2- Rostos e Máscaras
143
atrelado a um fazer voltado ao campo da estética, enquanto domínio das Belas Artes. O artista seria assim um representante do gosto aprimorado, um estudioso que bebe do néctar da erudição, um executor de trabalhos únicos, fruto de um processo de criatividade e inspiração que lhe agrega um valor diferenciado. A produção do artista pode ser contemplada, suscitando prazer e empatia. O artesão, por sua vez, é considerado um trabalhador voltado à execução de tarefas, ao domínio de técnicas que o ajudam na produção de objetos funcionais, utilitários, voltados às exigências de mercado que exige uma produção em larga escala. A produção do artesão pode ser adquirida facilmente, suscitando o prazer do consumo. O preconceito contra o artesanato-tantas vezes usado para designar algo sem valor, diante dos valores obsoletos da arte com A minúsculo - certamente reflete uma visão da sociedade que desvaloriza o que vem das camadas subalternas e reconhece previamente a produção da elite. (BORGES, 2011, p.22).
Existe toda uma carga pejorativa nessa diferenciação, fruto da distinção entre o valor e do trabalho intelectual e do trabalho manual. Nas sociedades industriais, sobretudo nas capitalistas, o trabalho manual e o trabalho intelectual são pensados e vivenciados como realidades profundamente distintas e distantes uma da outra. [...] Embora essa separação entre modalidades de trabalho tenha ocorrido num momento preciso da história e se aprofundado no capitalismo, como decorrência de sua organização interna, tudo se passa como se “fazer” fosse um ato naturalmente dissociado de “saber”. (ARANTES, 1988, p.13).
Um dos maiores ensinamentos que pude ter nesses anos de campo, em contato com os criadores das máscaras foi compreender que, indiferentemente de sua formação e escolaridade eles podiam ser referenciados como artesãos-artistas. Gostaria de reiterar que esse foi um termo criado por mim, como uma forma de ressaltar a importância de uma concepção simétrica, não hierarquizada. Não houve, porém, nenhuma intenção de calar as controvérsias que continuavam cercando o campo, filtrar ou disciplinar o que se apresentava. Sabia que era necessário enaltecer as perturbações e conflitos, porque aí é que a sociedade mostra-se viva: aprender sociologia com os atores. Capítulo 2- Rostos e Máscaras
144
O campo revelou que eles mesmos se auto-intitulavam de forma diferenciada, dependendo da maneira como se viam, eram reconhecidos, homenageados e respeitados. Ressoa dentro deles a própria controvérsia da sociedade. Eles viviam internamente o conflito e expressavam em suas falas uma questão que é coletiva. Ressaltavam em suas narrativas a diferenciação pela forma como o artista e o artesão lidava com o processo criativo, a partir da aquisição ou manipulação dos materiais. A diferença é porque o artista plástico mexe mais com tela. O artesão não! O artesão ele cria a sua peça, depois ele vai fazer o seu produto, aí é considerado como artesanato. O artesão mesmo ele faz seu molde, depois ele vai fazer a máscara. O artista plástico não. O artista plástico ele vai comprar tudo já pronto. É só pegar o pincel e na sua cabeça o que é que ele vai pintar ali, riscar e dalí fazer o seu trabalho. (Zé Pedro).
Alguns artesãos são reconhecidos também como artistas, por serem pintores de telas ou escultores, permeando o universo das artesplásticas15. É o caso de Robeval Lima, artesão-artista reconhecido pelo [15] A Arte contemporânea não é mais denominada plástica, mas visual- ligada ao cotidiano. O termo Artes plásticas aflorou do campo na fala dos interlocutores, pois essa geralmente é uma concepção de Arte expressa pela maioria das pessoas.
seu trabalho de divulgação da Folia dos Papangus. Como executor de máscaras, estilista de fantasias, brincante, pintor de quadros e diretor de Cultura de Bezerros, vivencia terrenos férteis da arte erudita e da popular. É importante assinalar que essas pessoas são muitos importantes como canalizadores de incentivos junto aos órgãos governamentais para a manutenção e o desenvolvimento das brincadeiras (Dig. 02). Em uma das visitas aos ateliês de Bezerros, ao fazer referência a uma artesã-artista como artista ela logo retrucou: “Não! Eu prefiro artesã. Eu acho artista plástica assim muito fresco, sabe? Muito... sabe? Aquele negócio requintado, muito chique. Eu não... Eu sou povão mesmo!” (Josy dos Santos16).
[16] Maria Josileide dos Santos, mais conhecida como Josy é artesã-artista de máscaras, 45 anos. Funcionária pública, hoje tem ateliê com o esposo, Cláudio Sergio da Rocha
O mestre Lula Vassoureiro destacou em alguns momentos de sua fala as denominações que lhe foram sendo atribuídas com o passar do tempo. Comecei como artista, já ganhando dinheiro... eu tinha oito anos de idade. Só que eu comecei como artesão eu tinha seis anos de idade. Só que aos dezoito anos eu não sabia essa palavra de artesão o que era. O pessoal começava a me chamar de artesão e eu... prá mim era um Capítulo 2- Rostos e Máscaras
145
apelido, eu até me enjoava, mas depois eu fui crescendo... e quando a gente vai crescendo vai crescendo a mentalidade em tudo, a gente vai pensando melhor... [...] Hoje eu respeito os artesãos, tanto da região quanto de fora daqui, e de outros estados que chegam aqui. Mas mestre, eu não gosto bem dessa palavra de mestre, porque mestre só Deus, mas já me apelidaram. (mestre Lula Vassoureiro).
Numa perspectiva simétrica pude, a partir do campo vivenciado durante a pesquisa, pensar sobre esse mundo que se apresenta, a olhos vistos, como uma trama cuja essência é a relação entre o cognitivo e o sensível. A rede entrançada pelos saberes milenares que atrelam conhecimento e sensibilidade na Arte das máscaras se mostrou claramente a partir da realidade de Bezerros e Afogados da Ingazeira. Ali, uma outra lógica se apresentava na produção do conhecimento desenvolvida nos ateliês e contextualizado nas relações com o mundo: respalda-se em uma vivência prática, empírica, diária, tradicional, que não está edificada sobre os pilares da Arte erudita, nos moldes científicos da academia, e sim sobre os alicerces do saber popular. Dei segmento à Arte e a cultura de meu pai. Que prá o que meu pai fazia hoje é como se eu hoje não fizesse nem 10% porque ele trabalhava muito bem, era muito criativo apesar de ser também analfabeto, mas Zé Vassoureiro era conhecido aqui. E hoje onde ele estiver Deus está protegendo a ele e ele orgulhoso do filho que deixou, porque eu respeito muito a Arte, a profissão que ele exercia e eu só posso respeitar se eu trabalhar e fizer o serviço como faço. (mestre Lula Vassoureiro).
Zé Vassoureiro17, pai de mestre Lula, inseriu o filho no [17] Zé Vassoureiro foi o responsável pelo nascimento de muitos folguedos de Bezerros. Fundador do Bloco Bola de Ouro e Cana Verde, organizava o Bumba-meuBoi de Bezerros. [18] Parte de uma entrevista transcrita do folder de exposição A arte de J. Borges: do Cordel à Xilogravura, organizada pela CAIXA Cultural, Rio de Janeiro, 2009.
trabalho com as máscaras: uma tradição passada através de gerações. O mestre Beijamim fez também um depoimento sobre importância de seu pai, músico da Banda de Afogados da Ingazeira, para o seu percurso pelos caminhos da Arte. O mestre J. Borges, por sua vez, assinala que, na linha de sua história a própria necessidade de experienciar sua arte o transformou em artista. (Dig.03) E ainda hoje faço cordel, já tenho além de duzentos títulos publicados e espalhados pelo mundo. Melhor ainda foi porque a necessidade de ilustrar o cordel me levou a ilustrar sem nunca ter visto como era. Desde essa data eu virei artista, pela necessidade de ilustrar virei xilógrafo–gravador popular. (J. Borges18). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
146
Nos espaços de trabalho dos artesãos-artistas havia um universo onde a Ciência e a Técnica estavam presentes e pulsantes: os ateliês onde eram confeccionadas as máscaras dos brincantes da Cultura da Tradição. Nesses lugares, os objetos vivem uma vida claramente múltipla e complexa por intermédio de reuniões, projetos, esboços, regulamentos e provas. Surgem totalmente fundidos com outras ações mais tradicionais. (LATOUR, 2012, p. 120)
Desejei compreender o tecido formado entre a dimensão cognitiva e o contexto social que envolvia esse trabalho. Certamente esse foi um importante caminho para o entendimento sobre a vida dos folguedos, suas permanências e mudanças. A Ciência era vivenciada plenamente nos ateliês, mesmo apresentando-se diferenciada de outros espaços conhecidos por nós como “lugares onde se faz Ciência”. Os cientistas, por exemplo, vivem em seus laboratórios, trocando informações, manipulando substâncias, operando instrumentos, fazendo experiências e analisando dados. Os artesãos-artistas vivenciam, em seus ateliês, um convívio grupal, [19] Bruno Latour e Steve Woolgar (1997) relatam a experiência etnográfica em um laboratório de biologia. Ressaltam a importância de um trabalho antropológico que possibilite o estudo da ciência atual, deslocando o interesse retratado pela Antropologia clássica, pautada em pesquisas sobre campos longínquos, cuja atenção sempre foi, na maioria das vezes, resultado da curiosidade por costumes tidos como exóticos. Delineiam, assim, os objetivos da Antropologia da Ciência e da Técnica, a qual fala da produção do conhecimento de grupos próximos, contextualizados na dinâmica contemporânea.
manejam materiais, esboçam ideias, usam ferramentas, criam alternativas, descobrem caminhos e colhem resultados. No laboratório há o convívio entre técnicos e cientistas; no ateliê entre aprendizes e mestres: em ambos os casos o conhecimento é construído coletivamente, embasado pelo respeito e hierarquia. Nos dois espaços, as dimensões, cognitiva e criativa, dialogam incessantemente. Não objetivei, como Latour19, me debruçar sobre a vida em laboratório, mas adentrar naqueles espaços onde saberes e fazeres eram construídos. Observei que não era uma meta dos artesãosartistas das máscaras elaborarem tratados científicos sobre o trabalho desenvolvido em ateliê, mas certamente estavam sempre atentos a todos os resultados obtidos durante o processo de criação e preocupados com a divulgação de seu trabalho. Eu não sou artista plástica. Ser artista plástica é um negócio mais delicado, mais... talvez estude mais a peça e analise. Ah eu não tenho tempo disso não. Eu tenho mais é que fazer minha peça e sobreviver, sabe? E divulgar. Estou com material longe, graças a Deus. Já ganhou o mundo. (Josy dos Santos). Capítulo 2- Rostos e Máscaras
147
Não era também objetivo desses profissionais publicarem em revistas científicas ou participarem de encontros acadêmicos para divulgarem suas descobertas e aprimoramentos, mas era visível o interesse na construção do conhecimento passado através de gerações, do reconhecimento de seu trabalho, da visibilidade local, regional, nacional e até internacional.
[20] Apesar de constituírem domínios diferentes, tanto a Arte, quanto a Ciência nutremse do mesmo húmus: a criatividade (NOGUEIRA, 2010). Edith Derdyk (2001; 1988) fala da poética do ato criador, que inicia desde a infância e prossegue na fase adulta. Faz-nos ver a importância do desenho - através do gestual, do ponto em movimento, da linha que dança no papel, da criação infinita. Afirma a poderosa capacidade mental humana de abstração e criação. “A linha de horizonte, traço inventado pela nossa visão, não existe. A quem pertence: ao céu? Ao mar? À terra?” (DERDYK, 2001, p. 10) Fayga Ostrower reflete sobre o homem, ser criativo, que necessita de espaço e liberdade para se expressar, para por em prática sua criatividade. “O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensívelcultural-consciente do homem, e se faz presente nos multiplos caminhos em que procura captar e configurar as realidades da vida” (OSTROWER, 1987, p. 27).
Eu faço o meu trabalho hoje no Brasil inteiro. Sou pelo nono ano no salão dos mestres, Centro de Convenções [FENNEARTE]. Se tiver a feira em Brasília eu vou pro Salão dos Mestres também. [...] Porque eu fui o ano passado representar Pernambuco. [...] É não querer saber se eu vou ganhar muito, se vou ganhar pouco, eu quero ver meu trabalho. Prá mim o lucro meu todinho tá no futuro do meu trabalho. [...] Já fui na Pensilvânia. Já fui pro Canadá. Já fui prá Etiópia[...]. (mestre Lula Vassoureiro).
O depoimento do mestre Lula indica que a Arte das máscaras representa verdadeiramente uma ciência forjada a partir da labuta diária, construída pelo diálogo com o empírico. Reconhecimento é resultado desse esforço constante: trabalho cotidiano. Tive oportunidade de presenciar diversos artesãos-artistas exercendo o seu ofício. Existia um grande respeito por parte daqueles indivíduos com relação aos objetos por eles produzidos: as máscaras de materiais variados eram como novas faces que surgiam, pela habilidade de mãos que sabiam exercer, com competência, um trabalho imerso em esforço e prazer. Relembro muitos desses momentos nos quais os materiais, fruto da natureza, passaram a ter forma, cor e vida, pela competência, sensibilidade e criatividade20 dos artesãos-artistas; esboços e idéias que foram concretizados e tomaram forma, fazendo nascer as máscaras com múltiplas expressões (Dig 04). Testemunhei também que, após ser executada, a máscara não era abandonada em qualquer lugar, como um objeto inerte e sem vida. A sua vivacidade era sentida e isso realmente lhe imprimia um valor diferenciando, suscitando, por parte dos executores das obras ou daqueles que a usariam, um respeito e consideração (Dig. 05). As técnicas utilizadas, os materiais escolhidos, as texturas construídas, as pinturas e desenhos elaborados, nada era fruto do acaso: representavam saberes e fazeres passados pela sucessão de Capítulo 2- Rostos e Máscaras
148
gerações. Deveria pensar que esses aspectos eram apenas resultado de convenções? Como observa Lévi-Strauss os elementos convencionais “fornecem uma espécie de gramática cujas regras são aplicadas consciente ou inconscientemente para exprimir uma realidade vivida” (1997, p.121). Desta forma, torna-se indispensável constatar que a Arte, qualquer que seja ela, não remete apenas à natureza ou a convenção, mas ao sobrenatural, trazendo significados repletos de sentidos. 2.2.3 A Arte das Máscaras: Conhecimento, Técnica e Trabalho Para nós, as técnicas não são novas, e nem modernas no sentido mais banal da palavra, mas sim coisas que desde sempre fazem parte de nosso mundo. (LATOUR, 2009, p. 125).
A elaboração das máscaras exige um domínio de técnicas, a construção de conhecimentos, a manipulação com materiais: um diálogo
entre
natureza
e
cultura,
num
perene
processo
transformador21. É importante atentarmos também que “além da parceria do silêncio, processos que concebem técnicas deságuam num oceano de modos de vida e trabalho, traduzindo aspectos particulares [21] O Papel machê, do frances papier marché, é obtido a partir de uma massa elaborada pela mistura de papéis picados e triturados, cola, vinagre e gesso. A papietagem ou papier collés, é uma técnica que utiliza papéis rasgados em tiras e colados um a um, sobre uma base rígida. Ambas as técnicas utilizam estruturas em diversos materiais, como formas para os objetos construídos. São muito usadas na confecção de objetos decorativos, brinquedos, adereços e máscaras carnavalescas e de teatro.
sobre como a sociedade se organiza” (BRANQUINHO et al, 2011). Pedras,
gessos,
argilas,
madeiras,
metais,
papéis,
emborrachados, tecidos, couros, pigmentos, aglutinantes, vernizes, tudo remete ao elemento terra. São matérias “[...] estáveis e tranqüilas; temo-las sob os olhos; sentimo-las nas mãos, despertam em nós alegrias musculares assim que tomamos o gosto de trabalhá-las” (BACHELARD, 1991, p. 01) (Dig. 06). Nessa arte milenar, a rigidez da pedra, do gesso, da madeira, do metal, se adequam à construção de bases, que servem de moldes para as máscaras executadas em papel machê e papietagem21. Essas bases são obtidas pela escultura ou moldação da matéria dura (Fig.01; Dig. 07 a 09). Os emborrachados, os vernizes, os pigmentos, os aglutinantes, materiais mais maleáveis presentes na confecção e acabamento desses adereços são originários do petróleo, das madeiras, das fibras naturais. Embora sejam matérias terrestres, são moles e de Capítulo 2- Rostos e Máscaras
149
[22] Diversidade de materiais e formas.
maior plasticidade, podendo constituir matéria prima do processo artesanal ou industrial das máscaras. Como ressalta Gaston Bachelard (1991), os elementos água, ar e fogo suscitam a fluidez, o fugidio, o movimento, a mobilidade, a inconsistência, tão caros à ação da imaginação. Entretanto, com as substâncias terrenas, principalmente aqueles materiais que têm formas manifestas mais contidas, palpáveis, presas, consistentes, há uma
Máscara em couro, Claudio da Rocha, Bezerros.
perceptível e real problemática de como trabalhar a imaginação, o devaneio, a percepção e a liberdade de imagens, essenciais à existência humana. Trata-se de um exercício do imaginar, que deve ser perseguido e elaborado. Senti-me motivada a descobrir caminhos, traçar itinerários, cogitar suposições, sobre as possibilidades trazidas pelas imagens da matéria terrestre, dialogando com o estético e o simbólico que cercam a Arte das máscaras. Acredito que, embora o elemento terra seja pregnante nessa arte tão antiga, a água, o ar e o fogo também estão
Máscara em papel machê, Josy dos Santos, Bezerros
presentes de forma contundente. A água que dilui as tintas e dá maior plasticidade à massa feita com os papéis e ajuda na liga do concreto e gesso para a execução dos moldes; o ar que é essencial para secar tanto dos moldes e bases, quanto as tintas, colas e vernizes que servem de pele para as máscaras; o fogo que entra na fervura de alguns materiais e que, representado na figura do Sol, também é importante para a secagem e fixação dos aglutinantes e pigmentos (Dig.10). Nesse processo criativo das máscaras, os indivíduos e os
Máscara em papietagem mestre Lula Vassoureiro, Bezerros.
grupos vivem um jogo entre as forças humanas e naturais, jogo este que ajuda no desenvolvimento da imaginação criadora: uma relação direta entre o homem e a matéria22. Artesãos, artistas, designers, obreiros, criadores, executores, qualquer nome que tenham, trabalham um real entrecruzamento entre natureza-cultura e conseguem dar concretude à imaginação individual e comunal. Unindo inspiração e transpiração, os artesãos-artistas se apoderam das imagens construídas na mente, ou nas referências com o
Máscara em papietagem, mestre Beijamim Almeida, Afogados da Ingazeira.
mundo exterior e transformam as matérias duras e moles em arte e ofício. Muitas vezes, na passagem entre as imagens construídas na Capítulo 2- Rostos e Máscaras
150
mente e a concretização através do manuseio da matéria, o artista esboça, risca, desenha, imprime no papel suas ideias. Esses esboços servem de guia, possibilitando ajustes e adequações para que se obtenha melhor resultado na hora da execução do trabalho artesanal ou industrial. Na brincadeira dos Papangus, dos Tabaqueiros e de tantos outros folguedos dos mascarados, o concreto ou o gesso são a base para que o papel seja moldado. Após a secagem da papietagem ou do papel machê, várias camadas de cola, tintas e vernizes vão construindo uma espécie de pele, sobre a qual o artista imprime marcas, desenhos, grafismos, detalhes finais fruto de sua imaginação. Hoje o papel machê, a papietagem, os materiais reciclados, os emborrachados de látex, os tecidos estampados e até o couro são encontrados na diversidade da centenária Folia do Papangus de Bezerros. Os Tabaqueiros exibem máscaras artesanais e, na sua maioria, as emborrachadas, fruto da produção industrial. Na Arte das máscaras existe um exercício constante entre a criação e a execução, e nesse processo, [...] a imaginação e a vontade, que poderiam, numa visão elementar, passar por antitéticas, são, no fundo, estreitamente interdependentes. Só gostamos daquilo que imaginamos ricamente, daquilo que cobrimos de belezas projetadas. Assim o trabalho energético das matérias duras e das massas amassadas pacientemente é animado por belezas prometidas. (BACHELARD, 1991, p. 06).
E em todo esse percurso o homem cria e recria, faz e refaz, elabora e ornamenta. “O ornamento está no próprio coração da criação vital.” (MAFFESOLI, 2003, p. 127). Ele permite gozar a aparência, fazendo ver e viver: não é supérfluo. Ou melhor, é um supérfluo que dá vida, ao expressá-lo. Nesse sentido comungo com o pensamento de Lévi-Strauss (1997) de que as questões funcionais, estéticas e simbólicas são como uma trança de três mechas, entrecruzando-se. Aí, pelo domínio da técnica e da imaginação, buscase a beleza além da utilidade. Nesse sentido, a Beleza do Belo e do Feio são conquistas nos campo de batalha do estético (Fig.02 e 03). Não podemos pensar, porém, que essa é uma tarefa fácil e Capítulo 2- Rostos e Máscaras
151
[23] Artesãos-artistas trabalhando na elaboração das máscaras
desprovida de tensões. Nela, escolhas são feitas, barreiras são ultrapassadas, aprendizagens são colocadas em prática: uma luta entre o sentir e o fazer, dando vida à imaginação. As imagens criadas não são puramente cópias do real, mas resultado de uma bagagem individual e coletiva. É uma passagem da imaginação formal para a imaginação material: plenitude da criação. A máscara, como resultado dessa labuta23, conta uma história. Ela fala, narra sua própria vida e daquele que a executa. E o artistaartesão, tem por ela carinho, admiração, apego, mas precisa se
Claudio Rocha (Bezerros) imprime na máscara seu conhecimento: ciência do fazer
desprender desses sentimentos, pois depende financeiramente de sua comercialização. Veja bem... cada máscara que a gente faz, não é? Já fica uma história. Porque todo artesão que ele faz a sua peça, ela não vai ficar... a segunda peça ela não vai ficar igual. Ela não fica. Aí naquilo ali quando a gente termina de fazer aquela peça, quando a gente olha prá ela, já acha uma coisa, sabe, interessante. E depois quando a gente pinta ela também, aí é que vai dar o maior valor ainda, quando a gente olha prá peça e diz “eu não vou vender a máscara não, vou ficar com ela”. Mas é o seguinte o artesão sobrevive daquilo, aí tem que vender. (Zé Pedro).
A Arte das máscaras exige técnica, criatividade, escolhas, decisões, disciplina, paciência, determinação, dentre outras tantas Iraildo Batista (Bezerros): trabalho e conhecimento.
competências e habilidades fruto de um aprendizado: saber elaborado na vida. Aí se processa uma luta cujas armas são o conhecimento e o trabalho e nesse percurso é de fundamental importância o ensinamento dos mestres.
Murilo Albuquerque (Bezerros) registra sua marca através das tintas e detalhes: satisfação revelada.
O pensador, e igualmente o artista, que resguardou o melhor de si próprio em obras, sente uma alegria quase maldosa quando vê como seu corpo e seu espírito foram lentamente alquebrados e destruídos pelo tempo, como se visse num canto um ladrão trabalhando em seu cofre, sabendo que está vazio e que todos os tesouros estão salvos. (NIETZSCHE, 2006, p. 173).
A figura do mestre está atrelada a um indivíduo que adquiriu, pelos anos de dedicação e labuta, o domínio de um conhecimento elaborado, não necessariamente resultante de uma formação acadêmica. O conhecimento construído no mundo, na vivência, no empírico, constitui a escola de muitos dos mestres que são além de Capítulo 2- Rostos e Máscaras
152
executores, multiplicadores de saberes e fazeres. Existe uma troca entre o discípulo e o mestre. No contato com ao mestre, o discípulo reconcilia-se com a vida; no contato com o discípulo, o mestre reconcilia-se com a morte. Cada um dá e recebe ao mesmo tempo; cada um recebe de modo diverso do que dá, mas na proporção daquilo que dá. (GUSDORF, 1995, p. 168).
Geralmente se faz uma ligação da figura do mestre a um indivíduo de idade avançada: cabelos brancos, movimentos lentos, ar circunspecto, recluso entre as paredes de um ateliê, cercado pelos aprendizes. Certamente podemos atrelar a imagem do mestre ao contador de histórias, ao Griot africano, que é guardião das tradições e dos costumes. “Rodas se formam em volta daqueles que, pelo dom da palavra, envolvem os que atentamente se calam para escutar. E nestes momentos mágicos todos os sentidos são aguçados: sentimentos que envolvem tanto quem conta, quanto quem ouve.” (COSTA, 2009b, p.68.).
Existem,
no
entanto,
mestres
jovens,
exercitando
continuamente uma conexão com o mundo e tirando partido dos recursos
digitais
de
comunicação
que
assolam
o
mundo
contemporâneo. [24] Mestre Lula Vassoureiro
Os artesãos-artistas que trago como exemplos de mestres revelam um trabalho de construção e multiplicação do conhecimento na Arte das máscaras nos municípios de Bezerros e Afogados da Ingazeira. Suas histórias de vida me ajudaram a romper com uma visão estereotipada dessa figura emblemática, essencial ao desenvolvimento da Cultura da Tradição.
[25] Mestre Beijamim Almeida.
A escolha dos mestres foi, verdadeiramente, uma revelação do campo, que contou com o aval de toda uma teia de moradores, brincantes, representantes institucionais e artesãos-artistas dessas cidades, além do reconhecimento da imprensa local e regional. As figuras de mestre Lula Vassoureiro24, em Bezerros e mestre Beijamim Almeida25 em Afogados da Ingazeira trouxeram à tona um trabalho diário
desses
lutadores
que
perseguem
a
continuidade
de
ensinamentos, aprendizagens e práticas da Arte das máscaras dos Papangus e Tabaqueiros. Muitas das entrevistas feitas em Bezerros apontavam para a Capítulo 2- Rostos e Máscaras
153
[26] Antônio Vassoureiro, avô de mestre Lula era, artesão-artista da palha, criador de vassouras, cestos e adereços. Zé Vassoureiro era carnavalesco, organizador do Boi de Dona Zefinha e do Cavalo Marinho. Foi fundador do tradicional Bloco Cana Verde e do Cambindas Velha. [27] Antônio Cristiano da Silva, 27 anos.
importância do trabalho de Amaro Arnaldo do Nascimento, conhecido como Lula Vassoureiro (Dig. 11 e 12). Neto de Antônio Francisco do Nascimento, (Antônio Vassoureiro) e filho de José Arnaldo do Nascimento (Zé Vassoureiro)26 o mestre representa a terceira geração de uma linhagem de artesãos-artistas. Seu filho, Lulinha27, já segue os caminhos dos antepassados. Liguei para o mestre Lula agendando um encontro. Ele de imediato marcou na Casa de Cultura Popular Lula Vassoureiro sua antiga residência, transformada em Ateliê, museu, espaço de aprendizagem (Fig 04; Dig. 13). Facilmente encontrei o local, pois todos conheciam aquele lugar mágico, cuja história dos Papangus estava entranhada em cada canto e recanto: nas máscaras de todos os tamanhos e
formas,
nos registros fotográficos, nos textos
emoldurados, nos banners expostos, nos troféus e homenagens. O museu-ateliê exalava a beleza de uma vida dedicada à Arte e a Cultura. Logo que estacionei o carro vi um senhor que subia a rua enladeirada, em minha direção, carregando um grande saco plástico, provavelmente com alguma encomenda em andamento. Era o mestre, que vinha de sua residência e demonstrou satisfação quando oferecemos ajuda para carregar o pacote. “Estava a sua espera!”, disse-me logo na chegada. Ali iniciei uma trajetória de aprendizagens: uma aula de história; uma história de vida; uma vida refletida nas palavras simples e diretas daquele exemplo vivo da tradição em movimento. O conhecimento construído e distribuído por aquele homem era fruto de uma arquitetura diária, que somava mais de meio século de persistência. Sua vida estava embasada no conhecimento que tinha sobre o folguedo dos Papangus e na Arte das máscaras: sementes plantadas que estavam frutificando e enchendo de orgulho aquele artista, sua família, sua cidade. O seu depoimento rompia incessantemente com qualquer conjectura de que o conhecimento deve ser atrelado a um saber sistematizado, erudito, acadêmico, pautado numa caminhada na educação institucionalizada.
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
154
[...] Meu pai era doente e era um profissional nas máscaras. Idealizou Boi-bumbá, a briga dos Bois, a briga das Burras, dos Mateus, das Catirinas e... não poderia ser diferente eu nascer junto da arte dele e ficar leigo lá num canto, sem estudo, sem nada. [...] Ele era doente, eu era dos filhos mais velhos e trabalhava prá administrar a feirinha básica na família. Então minha mãe me ajudava também... Ela trabalhava de faxineira e eu fazendo meus fretes, essas coisas [...] Eu não tinha como estudar. (mestre Lula Vassoureiro).
A vida do mestre não foi fácil. Em seus depoimentos repetiu constantemente o fato de não ter podido estudar e de ter encontrado na Arte das máscaras o sustento para ele e a ajuda para a família. Com muito esforço deu prosseguimento a arte de seu pai e transformou-se em um multiplicador de conhecimentos, não só em Bezerros, mas em muitos países do mundo. E cada vez eu melhoro mais. Você vê... uma pessoa que não sabe e um “O” chegar a um ponto de dar uma oficina para 316 alunos numa faculdade mais “O” do mundo que fica em Washington. (mestre Lula Vassoureiro).
O reconhecimento do seu trabalho lhe possibilitou o título de mestre. Hoje é representante de uma cultura formatada a partir da experiência do dia-a-dia. O valor de sua arte extrapola a questão monetária. Lula Vassoureiro é um representante da Cultura da Tradição de Bezerros. Os prêmios e as homenagens recebidas enchem-no de orgulho e o ajudam a prosseguir desenvolvendo e ampliando os saberes e fazeres. (Dig.14). Quero dizer que nos livros dos recordes hoje já tem uma máscara com cinco metros feita por essas mãos. Tem a menor do mundo que é um brinco, que realmente é a unha do dedo mindinho que é uma forma que eu tenho. (mestre Lula Vassoureiro).
Falou emocionado sobre a sua vida, tecida pelos fios da Arte e da Cultura. Desde 1953 esse folião coloca o Bacalhau do Lula Vassoureiro nas ruas de Bezerros, nas quartas-feiras de cinza: mais uma forma de incentivar a continuidade de uma tradição carnavalesca. Em Bezerros dezenas de artistas-artesãos devem sua formação àquela Capítulo 2- Rostos e Máscaras
155
figura emblemática. Muitos seguiram os caminhos do professor, tornando-se multiplicadores do conhecimento. Como Lula, esses artistas-artesãos seguiram preservando a tradição dos Papangus. Prosseguindo minha aprendizagem sobre os mestres, segui para o sertão do Pajeú. Ali, na cidade de Afogados da Ingazeira, conheci mais um exemplo de uma vida imersa em arte. Só não sou mestre! Disse-me um dia Beijamim. Essa foi uma forma humilde de quebrar com qualquer referência diferenciada que eu pudesse ter em relação a ele. Entretanto cada vez mais me convenci que esse seria um título mais que justificado, pelo trabalho desenvolvido em relação ao folguedo e a Arte das máscaras e pelo exemplo de vida, passado para seus discípulos. Georges Gusdorf enaltece a missão do mestre ao sinalizar que: todo mestre também é, num certo sentido, um mestre artesão que soube primeiro ganhar-se a si mesmo através de uma conquista metódica. A obra fundamental do homem é ele mesmo e as realizações exteriores são apenas confirmações dessa obra-prima fundamental que para o homem digno desse nome é a edificação de si mesmo. (GUSDORF, 1995, p.77).
Ser ou não ser mestre? Essa foi mais uma questão controversa que se apresentou durante a pesquisa, mas que os próprios itnerários do campo ajudaram na dinâmica da reflexão. O meu primeiro encontro com mestre Beijamim foi possível [28] Professora, Luzinete Amorim, 65 anos é uma amante da cultura regional. Nascida em Tabira, mas afogadense de coração representou um porto seguro nas diversas vezes que estive na cidade: carinho, alegria, ajuda, simplicidade, vivacidade eram atributos daquela nova amiga, que fez sempre questão em me auxiliar, abrindo portas para meu conhecimento sobre os Tabaqueiros.
pela ajuda de Luzinete Amorim28, uma nova amiga e colaboradora que conheci em minhas andanças pela Terra dos Tabaqueiros. Empenhada em me apresentar alguém que tinha certeza ser uma peça fundamental para a compreensão do folguedo dos mascarados ela, após alguns contatos pela cidade, descobriu o endereço do mestre Beijamim Almeida. No bairro de São Bráz as casas brancas e coloridas, de portas e janelas abertas à espera da entrada da brisa quente do sertão, pareciam admirar pacientemente as crianças brincando nas ruas. Árvores e jarros verdejantes tentavam tornar mais amena a aridez daquele lugar. Ao batermos na casa indicada no endereço, veio nos receber um rapaz de sorriso largo, cabelos pretos, pele morena avermelhada, Capítulo 2- Rostos e Máscaras
156
com traços marcantes da antiga miscigenação local afro-indígena. Aquela figura me ajudou a quebrar imediatamente com a imagem do tradicional mestre de idade avançada. Com seus, 39 anos, mestre Beijamim transbordava simpatia, refletida em um sorriso constante: alegria para dar e vender. Logo começou a falar de forma animada sobre sua história na brincadeira, lembrando-se da década de 80. Na época a festa era maior do que hoje. A gente tinha aquele mela-mela na rua, né? A festa era bem maior. E aí, e também tem aquela coisa, meu pai era muito rigoroso. Então para eu sair de Tabaqueiro com 10 anos eu tinha que sair praticamente camuflado. Então eu me camuflava e saía na rua. Eu só saía quando diziam... “Teu pai saiu, tá no ACAI tocando”. Aí eu corria prá rua. (mestre Beijamim).
Filho de Expedito Laranjeira Barros, mais conhecido por Expedito abelhinha, músico da Orquestra de Frevo de Afogados da Ingazeira, Beijamim é reconhecido como amante da Arte e da Cultura, como seu pai. Incentivador da continuidade da tradição dos Tabaqueiros, construtor e facilitador do conhecimento: um mestre na Arte das máscaras. Hoje a gente pega uma cola, um gesso, um jornal. Mas naquele tempo a gente ia prá o rio e fazia a máscara de barro. E confeccionava, com aquela cola chamada grude, aquela cola de goma, e papel de cimento. O barro era o molde prá fazer a máscara. Não... É que naquela época era tudo grosseiro. Aí no caso a gente depois [...] quebrava a forma que era prá ninguém fazer igual. Aí a gente escolhia o rio, ali perto do bloco do trem, que era pouco frequentado e a gente fazia, quebrava o molde e jogava fora e a máscara saía com ela enrolada numa camisa prá levar prá casa que era prá ninguém ver. Hoje em dia o menino compra uma máscara de látex e diz: „vou trocar, eu tenho outra‟. (mestre Beijamim).
Beijamim, hoje mestre, construiu um caminho a partir da história do folguedo. Confirmou, com o seu depoimento, a importância do segredo na brincadeira, presente na astúcia da criançaartesã, que confeccionava suas próprias máscaras com os simples materiais que dispunha. Reconheceu, também, o valor da máscara como elemento essencial para os folguedos e para a sua vida. A importância da máscara, gente pro Tabaqueiro... Eu acho assim que é tudo! Independente da roupa. Porque na época a gente saía com o que tinha direito. Assim... Capítulo 2- Rostos e Máscaras
157
Eu vestia uma calça de minha mãe, botava um vestido. Uma meia na mão. Aí tá a diferença do Tabaqueiro mais novo pro mais velho, né? Agora que mantenho a tradição. Sempre o Tabaqueiro mais rústico: máscara de papel machê, roupa improvisada. (mestre Beijamim).
Orgulhava-se por tentar manter a tradição viva e atual. Uma vida repleta de conquistas, realizações, superações e uma dedicação enorme a tudo que decidiu fazer. Completamente “antenado”, o mestre Beijamim usufrui dos recursos da comunicação digital, divulgando seus trabalhos e dos parceiros preocupados com o movimento da cultura local e regional. Língua Grande Cultural é o nome de seu blog. Segundo ele mesmo explicou o nome faz jus a sua fama de brigão, corajoso, destemido, lutador. O jovem mestre vai todos os dias à academia, acumulando, com isso, músculos que lhe fizeram ser conhecido como “aquele fortão”. Realmente para ser Tabaqueiro é necessário um bom preparo físico. Correr pelas ruas da cidade, com o peso do cinto repleto de chocalhos, transpirando com o corpo totalmente encoberto e estalando o relho durante os longos percursos, exige muita resistência e treino. Mestre e brincante ele orgulha-se do apoio da esposa e da filha: a família disputa todos os anos o Concurso dos Tabaqueiros, ganhando geralmente as primeiras colocações. A sua participação como professor nas oficinas de máscaras, promovidas pela Prefeitura, permite que persiga um sonho: ver a tradição do uso das máscaras artesanais dos Tabaqueiros preservada. Hoje as máscaras emborrachadas são maioria do folguedo, tomando conta das ruas de Afogados da Ingazeira. O mestre visa, a cada ano, incentivar o uso das máscaras feitas de papietagem, pelos próprios brincantes. Tanto o mestre Lula Vassoureiro, quanto o mestre Beijamim demonstraram uma vida de luta e perseverança em prol da tradicional Arte dos mascarados. Papangus e Tabaqueiros significam para eles realização, trabalho, ofício, aprendizagem, diversão, conquista, conhecimento. Ser mestre é perseguir todos esses itinerários, visualizando a preservação e renovação de uma Cultura viva
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
158
[Fig. 01] Sobre os moldes rígidos repousam as novas faces. (Acervo Graça Costa).
[Fig 02] A Beleza do Belo: riqueza de detalhes nos Papangus de Murilo Albuquerque. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
159
[Fig 03] Beleza do Feio: exagero de ornamentos. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 04] Mestre Lula Vassoureiro exibe sua arte. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 2- Rostos e Máscaras
PARTE 02: LUA CRESCENTE
161
A deusa Lua teve muitos amantes, dentre eles o deus supremo Zeus, resultando dessa união a filha Pandia. Com seu irmão Helios, Selene gerou quatro filhas, as Horas, as quatro estações do ano. Pan, um de seus amores, que a seduziu disfarçando-se com uma pele de ovelha, a presenteou com um rebando de bois brancos. Com Endimião, um lindo pastor, teve 50 filhos. Para que seu amado não envelhecesse e perdesse a beleza, a deusa pediu a Zeus para dar ao amante humano uma vida eterna. Ele o fez com a condição de Endimião dormir um sono eterno. Todas as noites Selene descia a terra para amar o belo pastor adormecido (KURY). Na face lunar, luz e sombra dividem a superfície onde habita São Jorge e o dragão, numa luta perene. Vista da Terra, metade do círculo apresenta-se luminoso, mostrando parte dos detalhes de seu relevo cenário mitológico. Nesse período a Lua nasce aproximadamente ao meio dia e se põe próximo à meia noite. No satélite encantado e nas terras dos mascarados imaginário e realidade caminham juntos, formando um todo complexo. Revelação e ocultação; alegria e curiosidade. O que importa é brincar e se ocultar. O segredo dita as regras e as cidades formam teias de brincadeiras e máscaras. Para percebê-las devemos valorizar as multiplicidades, complexidades, entrelaçamentos, emaranhados, não desprezando as perturbações. Encontrar uma narrativa única para cada situação. Captar os rastros. (LATOUR, 2012).
PARTE 02: Lua Crescente
162
3. CARTOGRAFIA DOS MASCARADOS
A decoração é concebida para o rosto, mas o próprio rosto não existe senão por ela. A dualidade é, em definitivo, a do ator e de seu papel, e é a noção de máscara que nos traz a chave. (LÉVI-STRAUSS, 2003, p.298. Os não-humanos merecem bem mais do que preencher indefinidamente o papel bastante indigno, assaz vulgar, de objeto, na grande cena da natureza. (LATOUR, 2004, p. 94).
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
163
Atena, divindade guerreira era conhecida também como a deusa das artes, da tecelagem e das habilidades manuais femininas. Sendo responsável por distribuir os dons aos mortais, a deusa tornou Aracne capaz de desenvolver a Arte da tecelagem, tornando-se uma exímia fiandeira. A orgulhosa mortal não se conformava de seus dons terem sido dados por Atena e, presunçosamente, se achava capaz de ser melhor que sua mestra. Decidiu, então, desafiar a deusa para uma competição. Atena, disfarçada de anciã, tentou persuadi-la a desistir, mas Aracne continuou decidida a manter o desafio. Atena, voltando à forma normal, resolveu enfrentar a rival e, assim, dois maravilhosos trabalhos foram criados. A deusa retratou a cidade de Atenas: figuras que mostravam os mortais transformados, ao desafiar os deuses. A mortal retratou Zeus em diversas cenas, destacando suas aventuras amorosas. Embora seu trabalho estivesse perfeito, a temática escolhida irritou a deusa, que destruiu a criação de Aracne. Ela, muito deprimida, tentou se suicidar, mas Atena, compadecida, salvou a rival da morte, transformando a corda do enforcamento em fio e a pobre mortal em aranha. Assim Aracne sobreviveu, mas ficou condenada a passar o resto de seus dias tecendo, tornando-se fiandeira de sua própria teia (KURY, 2008).
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
164
3.1 Seguindo as Linhas: Construindo Teias [...] Há no mundo realidades que têm a condição de apresentar-nos em lugar delas mesmas, outras, distintas. Realidades dessa condição são as que chamamos de imagens. [...] Não é isso mágico? (ORTEGA Y GASSET, 1996, p.36).
A ideia de desenvolver uma Cartografia dos folguedos [1] Mensalmente ocorriam reuniões de orientação de pesquisas lideradas pela Profa Maria Aparecida Lopes Nogueira. Coletivamente, ela acompanhava o desenvolvimento dos trabalhos de graduandos, orientandos de iniciação científica, mestrandos e doutorandos. Esse era um projeto de extensão ligado ao Núcleo do ImaginárioPPGA, UFPE. A riqueza estava na possibilidade de ampliar a troca de aprendizagens e ensinamentos, socializando com os membros do grupo os nossos desejos, dúvidas, inquietações, conquistas e descobertas. Posso afirmar que aquela era uma forma reencantada de fazer Ciência.
pernambucanos que possuíssem mascarados em suas brincadeiras carnavalescas surgiu em uma das reuniões de orientação coletiva1. Após apresentar meus interesses de pesquisa para um futuro doutoramento, indicando o desejo de dar continuidade aos estudos do Mestrado, surgiu uma discussão da importância de se ter uma visão geral dos mascarados carnavalescos em todos os municípios pernambucanos. Mote dado: desafio aceito. A partir daquele encontro comecei a formatar aquele desejo que teve logo a aceitação e incentivo da Profa Cida Nogueira. Sabia das dificuldades que iria enfrentar. Tinha consciência da dimensão da empreitada, pois não seria fácil investigar sobre a Cultura da Tradição em 185 municípios do Estado. É importante registrar que a pesquisa envolveria os folguedos de mascarados e também a relevância dos mascarados em brincadeiras que não tinham a totalidade dos brincantes com máscaras2. Isso tornaria a dimensão do estudo ainda maior. Objetivei, no entanto, seguir em frente, certa de que não haveria possibilidade, dentro das limitações temporais do período de doutoramento, de obter um resultado totalizador desse universo, mas
[2] Existem brincadeiras cujos brincantes são todos mascarados - como os Caretas de Triunfo, ou os Papangus de Bezerros. Outras que têm mascarados, sendo minoria dentro do folguedo: brincantes que usam máscaras e saem individualmente, ou em dupla, mas que têm uma real significância nas manifestações popularesComo o Mateus e a Catirina dentro do folguedo do Bumba-meu-boi ou do Maracatu Rural.
uma visão geral da problemática estudada: um tipo de esboço para o delineamento de futuros trabalhos com profundidade diferenciada. Os mapas são importantes? Sim! Entretanto não podemos acreditar que suas informações nos dão uma visão completa do que mais nos interessa: o movimento. A Cartografia é apenas mais um recurso de visualização: formas e cores que ajudam a pensar na metamorfose que subjaz a representação gráfica; latitudes e longitudes que delineiam os espaços vivos; desenhos e sinais que indicam as partes e o todo de uma tradição repleta de dinamismo. Entendo o mapa como um momento eterno visualizado no papel. Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
165
Percebi que a Cartografia era um vocábulo presente na teoria ator-rede, que enaltecia seu valor, por permitir retratar a dinâmica do objeto fotografado em um determinado tempo-espaço. Os mapas, segundo Latour (2001), podem ser reconhecidos pela importância na construção do conhecimento. Esses objetos nos ajudam a perceber o [3] Paris, cidade invisível é uma minunciosa investigação cartográfica e fotográfica desenvolvida por Latour e Emilie Hermant (1998). Disponível no site http://www.brunolatour.fr/virtual/ EN/index.html.
mundo, a situar detalhes reveladores em escalas que auxiliam na orientação humana. Como quase-sujeitos eles também são narradoras e indicam elementos presentes na construção da História. Embora o autor tenha desenvolvido um detalhado trabalho cartográfico e fotográfico sobre Paris3, alerta para a percepção de que, nas cidades, o conjunto dos humanos e não-humanos continuam a circular, segundo após segundo, num infinito processo de construção e isso
[4] O Núcleo Ariano Suassuna de Estudos Brasileiros foi lançado em 2007, abrindo as celebrações dos 80 anos de Ariano Suassuna, na UFPE. [5] marca do Grupo Máscaras e Mascarados de Pernambuco.
não aparece nos registros cartográficos ou fotográficos. Devemos seguir seus rastros deixados pelos coletivos e tentar captar esse dinamismo, tendo os mapas como aliados (LATOUR, 2010). Compreendendo a importância da Cartografia, observei que não seria necessário seguir sozinha naquela imensa viagem de descobertas. Pretendi tecer uma trança com muitos fios que ampliasse a possibilidade de alcançar os objetivos propostos. Como conselheira e pesquisadora do NASEB4 formatei e passei a coordenar uma pesquisa intitulada Máscaras e Mascarados de Pernambuco5. Esta objetivava não apenas estudar os folguedos carnavalescos, mas desenvolver uma
Cartografia
dos folguedos pernambucanos
presentes nos diversos ciclos festivos do ano, ampliando a pesquisa [6] participaram da pesquisa Danielle Nascimento Vilela Alves (design graduada na UFPE e IFPE), Daniele Pereira da Silva (design graduada na IFPE/ graduação em Relações Públicas-UFPE), Patrícia Lauriano de Lima (graduanda do Curso de Artes Plásticas- UFPE/ aluna do Curso de Segurança do Trabalho – IFPE. Carlos Limagraduando em HistóriaUFPE
em relação às brincadeiras do Natal, Reisado, Quaresma, Circuito Junino e outros. Assim o projeto ligado ao NASEB não visava só atingir meu foco no doutoramento, mas teria uma abrangência maior. Contando com a ajuda de bolsistas do NASEB e de alunas voluntárias do Curso de Design Gráfico do IFPE6, iniciei a investigação a partir do rastreamento em sites e blogs que faziam referência à cultura dos municípios de cada uma das 12 regiões de desenvolvimento do Estado. Elaborei fichas para que todo o trabalho pudesse ser registrado e paulatinamente ampliado no decorrer da pesquisa (APÊNDICE E). Dados gerais sobre as cidades, detalhes Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
166
sobre festas, folguedos, artesanato, datas comemorativas, tudo importava, naquele momento, para que tivéssemos uma visão ampla da vida cultural dos municípios e de como iríamos prosseguir a partir desses dados. Após essa varredura inicial, passei a construir um fichário para cada região com a indicação dos contatos telefônicos das prefeituras municipais, endereços eletrônicos (e-mails) e telefones [7] É interessante assinalar que existiu uma disponibilização muito grande nos municípios interioranos dos telefones particulares dos gestores – Secretários de Cultura e Turismo, Diretores de cultura, Chefes de Gabinete- facilitando muito o contato direto com os administrativos.
particulares dos gestores7. Queria ter uma comunicação direta com os secretários de cultura e turismo por telefone e e-mail para que eu pudesse checar os dados já obtidos nas fichas da pesquisa via internet. (APÊNDICE F). Iniciei, portanto, o contato em cada um dos municípios pernambucanos. Gostaria de registrar que essa etapa constituiu uma tarefa desenvolvida por mim, sem a ajuda dos bolsistas. Sabia o quanto era importante eu mesma direcionar os questionamentos, ouvir os depoimentos, inserir dados, construir uma relação mais pessoal com gestores, ampliando, assim, minha percepção sobre a grandiosidade
da
problemática
da
Cultura
da
Tradição
pernambucana. Em muitos municípios interioranos foram passados os números particulares dos gestores: uma prova de confiança e interesse em auxiliar a pesquisa. Depois de cada contato foram enviados e-mails para os gestores, solicitando que respondessem os questionamentos por escrito e disponibilizassem alguns registros fotográficos. Muitas informações foram dadas e amizades iniciadas. Acredito que a formação desse banco de dados poderá ser de suma importância para futuras pesquisas sobre a Cultura da Tradição de Pernambuco, tanto no âmbito dos pesquisadores do NASEB, quanto para outros estudiosos da área. Nessas tentativas de contato com os gestores da cultura e turismo em cada município eu falei, num primeiro momento, com telefonistas, administrativos, assessores, o que ampliou de forma significativa a rede de informações sobre os folguedos. Esses informantes eram ao mesmo tempo funcionários, moradores e até Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
167
brincantes, orgulhosos de poderem falar sobre a cultura de sua terra natal. Paralelamente a essa etapa os dados foram multiplicados e checados através de um levantamento bibliográfico em instituições governamentais voltadas à Cultura e ao Turismo, ampliando a pesquisa específica sobre a Cultura da Tradição Pernambucana. As viagens,
em
muitos
desses
municípios,
serviram
para
o
aprofundamento sobre brincadeiras locais, obtenção de fotos e máscaras e contato direto com gestores, moradores e brincantes. Durante quase todo o desenvolvimento da Cartografia segui a mesma metodologia acima descrita, percorrendo uma linha condutora, que me indicava direção e sentido. Entretanto ao iniciar a pesquisa nos municípios da Região Metropolitana do Recife, senti, de imediato, que seria necessário realmente muito mais tempo e disponibilidade para que pudesse abranger a magnitude das [8] Como reflexo dessa realidade em julho de 2010 foi formado o Fórum de Gestores Públicos de Cultura da Região Metropolitana do Recife, objetivando discutir conjuntamente as políticas e programas de cultura, criar um amplo canal de informações e debates sobre a realidade de cada um dos município da RMR- e do Estado como um todo- e ampliar a integração com o Sistema Nacional de Cultura-SNC, no âmbito federal. O Fórum conta com representantes dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. Fora do grupo está o município de Fernando de Noronha, em função do arquipélago ter uma realidade diferenciada do universo metropolitano.
manifestações culturais existentes nesta região. A Região Metropolitana do Recife constituia, realmente, uma realidade à parte. Apenas um bairro desse aglomerado urbano podia ser mais populoso que toda uma cidade interiorana, revelando a extensão da dinâmica que envolve as grandes cidades no contexto da contemporaneidade. Os municípios que formam o universo metropolitano dialogam constantemente com elementos que são ao mesmo tempo característicos de cada pequena porção e do todo, reconhecido como o Grande Recife8. Na RMR pode-se registrar mais de duas centenas de manifestações culturais distribuídas em onze modalidades. Clubes de frevo, Troças carnavalescas, Clubes de bonecos, Blocos líricos, Maracatus de baque solto e virado, Ursos, Bois, Caboclinhos, Escolas de samba, Tribos de índios, que participam do Concurso de Agremiações carnavalescas promovido pela Fundação de Cultura da Prefeitura do Recife (PREFEITURA DO RECIFE, 2008). Seria impossível, no tempo de pesquisa do doutoramento fazer uma cartografia dos mascarados presentes nesse universo gigantesco e complexo. Assim, me detive apenas a alguns exemplos encontrados nos folguedos de mascarados Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
168
destacados pelos gestores dos 15 municípios da região. O campo me deu as respostas. Os atores, sujeitos e objetos, narraram sobre o valor dos folguedos, a permanência e mudança das brincadeiras, as características das manifestações dos mascarados. A seleção das máscaras partiu das categorias: pintura de rosto, meia máscara, face e cabeção. Ficaram fora desse agrupamento as coberturas de corpo inteiro nas quais o indivíduo é considerado apenas “miolo”, isso é, carregador do corpo. É o caso dos Bois e dos Bonecos gigantes. Como “miolo” o brincante não participa do jogo do anonimato e do segredo. Durante toda a pesquisa os mapas foram sendo elaborados, corrigidos, ampliados e povoados pelas máscaras. Uma Cartografia viva e mutante. 3.1.1 Apresentando os Mascarados: Brincadeiras de Ontem e Hoje.
URSO A presença do Urso na cultura brasileira se deu basicamente pela herança européia, uma vez que esse animal não faz parte de nossa fauna. Presente na mitologia, em ritos religiosos, na literatura, no teatro, na dança, na arte heráldica, “os seus significados têm sido reinterpretados e atualizados. Os primeiros colonizadores europeus trouxeram para o Brasil a memória da presença do Urso que havia em suas comunidades de origem” (BEIJAMIM, 2001, p.04). Dentre os imigrantes italianos vindos ao Brasil no século XIX, destacam-se os ciganos, que se dedicavam à prática circense e exibiam seus Ursos, presos a coleiras ou golas, encantando os assistentes. O antropólogo e pesquisador Erisvelton Melo destaca a presença desses animais para a comunidade cigana. “Enquanto para o brincante é apenas um divertimento, para o cigano é o símbolo de coragem em tempos ainda vivos na memória.” (MELO, 2008, p.94). Katarina Real esclarece que: “não há dúvida que o urso „veio da Itália‟. Italianos com um Urso dançando, ora indo pelas cidades do interior, ora se exibindo em circos foi coisa comum no Brasil de Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
169
ontem” (REAL, 1990, p. 115). O certo é que esse personagem há muito encanta de nossas feiras, festas e folguedos, trazendo diversão para brincantes e assistentes. Na brincadeira carnavalesca do Urso de Carnaval existia a presença obrigatória de dois foliões: o Urso e o domador. Algumas vezes uma terceira figura aparecia: o caçador, carregando uma velha espingarda. O domador também era chamado de italiano ou comandante. Alguns grupos incluiam um porta-bandeira, que conduzia uma bandeira ou até mesmo um cartaz bem rústico, com o “nome do urso” e data de fundação (CASCUDO, 2001; REAL, 1990). Também chamado de La ursa, o folguedo é acompanhado por marcante musicalidade de percussão: o bombo, o reco-reco, o triângulo são os instrumentos básicos. Às vezes a sanfona é usada para alegrar a brincadeira. O termo La Ursa é também usado pela população para designar um grupo de crianças e adolescentes que têm um personagem mascarado, feio e maltrapilho: metamorfose do Urso original (Fig. 01; Dig. 01 e 02).
[9] Secretário Executivo de Cultura da Ilha de Itamaracá, RMR, Núcleo Sul.
A Lauça (La ursa) não é um bloco de Carnaval, mas sim uma brincadeira típica de criança, realizada no período carnavalesco. Esta tradição local não tem dia nem hora para acontecer. Surge a partir da vontade e da espontaneidade das crianças, que se vestem e se mascaram para brincar o Carnaval nas ruas de suas comunidades. Infelizmente tal manifestação está cada vez mais rara na cidade, talvez devido à perda do sentimento e da inocência da criança provocado pela aculturação/alienação da cultura de massas e da evolução precoce das crianças. (Edvaldo do Monte Júnior9).
Os grupos seguem batendo em latas e repetindo a cantiga “A La ursa quer dinheiro! Se não der é Pirangueiro!” Quando os assistentes contribuem com “o trocado”, os brincantes animam-se e o Urso dança e faz peripécias, como forma de retribuir o agrado. Se não há contribuição, a meninada sai gritando “É pirangueiro, É pirangueiro!”. Uma forma de atingir o assistente rotulando-o de sovina. Penso que esse pode ser entendido como mais um exemplo do Ciclo da Dádiva,
[10] Vide Capítulo 07.
proposto por Mauss, fechando o ciclo - dar, receber e retribuir10. A fantasia de Urso é coberta por estopas, pedaços de panos
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
170
coloridos, fibras vegetais ou sintéticas tendo geralmente uma predominância das cores preta, marrom e branca. Com sua máscara em papel-machê, encobrindo-lhe toda a cabeça, o alegre brincante dança, simula ataques aos assistentes, diverte e amedronta a criançada. Silencioso, estende a mão para pedir dinheiro, que é geralmente recolhido pelo domador. Katarina Real (1966) assinala a presença de 18 Ursos no desfile do Carnaval de 1965, no Recife. Beijamim (2001) registra que no ano 2000, mais de 50 grupos desfilaram na Capital e em outros municípios. Nos Concursos organizados pela Prefeitura do Recife há uma exigência de participação mínima de figurantes, que varia de 20 a 30 componentes, dependendo da categoria. A orquestra que acompanha o folguedo é composta por nove músicos, encontrandose dentre os instrumentos a sanfona, o violão, o reco-reco, o pandeiro, o triângulo, o tarol, o surdo: desenvolvem conjuntamente a “marcha do urso”. Popularmente a figura do Urso está muito associada à questão da traição, ao amante da mulher casada, ao vizinho que trai o amigo, à viúva alegre que se exibe com o animal-amante e ao marido corno. “Seguindo a direção geral da liberação de costumes, as apresentações dos ursos vêm assumindo, a cada ano, a temática da sexualidade no rumo da permissividade até chegar à obscenidade explícita” (BEIJAMIM, 2001, p. 06). Observei durante a pesquisa que, tanto como um grupo mais elaborado, participante de Concursos, quanto como uma brincadeira de rua, cuja característica é a simplicidade e o uso da pândega para a obtenção do “trocado”, o folguedo está presente nos diversos bairros da Capital, nos municípios litorâneos e também no interior, alegrando os assistentes pela manutenção da tradição e pela criatividade. Alargando cada vez mais a área geográfica de seu domínio a brincadeira forma uma grande teia, que envolve muitos municípios do Estado. Existem cidades que promovem o Concurso do Urso, como em São Caetano, Agreste Central e a Região Metropolitana do Recife (Teia do Urso). Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
171
CARETA O termo Careta esteve sempre associado a uma figura feia e também popularmente é reconhecido como sinônimo de máscara. (CASCUDO, 2001). Em alguns municípios esses mascarados, que despertavam o medo à população nos primórdios das brincadeiras, sofreram, em sua trajetória centenária, mudanças significativas. Hoje, a maioria dos brincantes circula nas ruas exibindo-se vaidosos: apresentando-se
aos
visitantes,
participando
de
Concursos
municipais. Em Triunfo, no Sertão do Pajeú, foi reconhecida a importância e a visibilidade dos mascarados que passaram a representar a cidade sertaneja, hoje intitulada Terra dos Caretas. Com corpos cobertos pelas roupas em cetim, com detalhes em tecidos; enormes chapéus com fitas acetinadas, flores artificiais, espelhos e pompons multicores; as mãos encobertas por luvas e os pés por sapatos e botas, os brincantes exibem suas máscaras medonhas e belas. Para não ser descoberto pela cor ou forma do cabelo, os quais revelariam detalhes sobre a idade ou gênero do brincante, o Careta [11] Assim chamada pelos brincantes, a carapaça é uma malha colocada para encobrir a cabeça e o rosto; possui dois furos na altura dos olhos.
coloca uma carapaça11 encobrindo-lhe toda a cabeça (COSTA, 2009a) (Fig. 02 e Dig.03). A máscara, geralmente feita em papietagem, continua sendo um elemento de destaque, indispensável para propiciar o anonimato: amiga inseparável do mistério. O Careta se mascara e através desse adorno ele mantém uma ocultação. De colorido vibrante a máscara do Careta possui design próprio, marcado pelas aberturas na área da boca e dos olhos. O orifício da boca geralmente tem a forma de uma meia lua invertida, lembrando a máscara de feição triste que, ao lado da de semblante alegre, é usada como símbolo do teatro. (COSTA, 2009a, p.50).
Os Caretas de Triunfo carregam nas costas as tabuletas em madeira. Esta é uma forma de comunicação e empatia entre os brincantes, moradores e visitantes, que se divertem ao lerem as frases jocosas: mensagens criativas pintadas com letreiro colorido, de autoria dos próprios mascarados ou retiradas dos pára-choques de Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
172
caminhões (LOPES, 2003). Os chocalhos dependurados nas tabuletas alertam para a presença dos brincantes nas ruas (Dig.04). [12] O relho, chicote utilizado pelos mascarados é originário dos chicotes usados pelos tangedores de burro (LOPES, 2003).
O relho12, chicote usado pelos mascarados, complementa a fantasia sendo de suma importância para o desenvolvimento da brincadeira. Ele propicia o duelo entre os brincantes e exige destreza e prática dos Caretas, que começam a treinar o seu manuseio quando ainda crianças (Dig. 05). Triunfo hoje é um pólo de animação, mas a brincadeira dos mascarados é mantida e renovada também em outras cidades da região do sertão do Pajeú. (Teia do Careta). MATEUS e CATIRINA O Bumba-meu-boi, „entremeio‟ do auto maior, o Reisado, possui diversos personagens. Há, no Carnaval, o desligamento da tradição do Reisado e a participação na pândega carnavalesca de alguns de seus personagens, que brincam „independentes‟. Assim os Bois, as Burras, os Mortos Carregando Vivos, os Cavalos-Marinhos, os Ursos, o Babau, a Catirina, o Mateus, passam a compor um grupo desses “bichos soltos” encontrados nas ruas do Recife (REAL, 1990). Segundo a pesquisadora o Mateus, a Catirina e o Sebastião formam uma tríade de “palhaços” que pulam e gritam animadamente nos folguedos. Câmara Cascudo (2001) assinala que os personagens “malajambrados”, com seus rostos pintados de preto, conhecidos popularmente como o Mateus, a Catirina e o Birico, companheiro do Mateus, evocam o período da escravidão nas fazendas. Assim, em algumas cidades o Mateus forma, ao lado da Catirina ou de outro companheiro que sempre o acompanha, uma tríade de personagens cômicos. No Maracatu rural, destaque na região da Mata Norte, sua presença é marcante, ao lado da Catita, outra denominação para sua companheira de pândega. Geralmente esses personagens migraram do Cavalo Marinho, do ciclo natalino, ou do Bumba-meu-boi. No Agreste Central, em Bonito, Caruaru e Jataúba, a dupla alegra os Bois que circulam no Carnaval. A Catirina é representada por uma negra exuberante, Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
173
enfeitada, festeira, acionando o imaginário para a opulência das negras fogosas, que despertavam o interesse masculino. Existem muitas Catirinas, que são homens travestidos de mulheres, jocosos, desprovidos de censura, vivenciando a libertinagem e a inversão, próprias do Carnaval. As lembranças da infância de alguns moradores revelaram que Catirina pedia dinheiro nas ruas e provocava medo: com sua face e braços pintados de negro e suas roupas velhas, assustava a meninada que a seguia.
[13] Professor, Designer.
Lá vem a Catirina!! O coração pulava do peito, as pernas bambeavam e se mexiam rapidamente em busca de um esconderijo. Podia ser em baixo da cama, dentro do guarda-roupa ou atrás de uma porta. O importante era estar em um lugar seguro onde ela não pudesse nos encontrar. Esta era a Catirina da minha infância, em Surubim. Uma mulher negra, feia, com um bebê no braço e algumas vezes acompanhada por uma banda. Outra, sozinha com o seu bebê saia pedindo dinheiro e para pegar as crianças (não me lembro mais para quê nem tão pouco o porquê.). Lembro apenas que morríamos de medo desta criatura, assim como dos Papangus e da La ursa. (Josinaldo Barbosa13)
O medo marcava também a brincadeira popular em Surubim. Com o passar do tempo a criança medrosa passa a ser brincante, participando da continuidade do folguedo. Com o tempo conseguíamos encarar a figura assombrosa por trás da saia da mãe ou de longe protegido pela porta ou uma janela. Com a idade foi que descobrimos que a Catirina era apenas um homem pintado de negro com tinta a base de carvão, fantasiado de mulher de vestido também negro e um boneco no colo, também colorido através do pigmento do carvão que saia às ruas pedindo dinheiro. Com o tempo também, eu e meus irmão, também fomos Catirinas nas nossas brincadeiras de crianças. (Josinaldo Barbosa).
É interessante observar que em alguns municípios de Pernambuco o Mateus tem características diversas. Com a mesma denominação, aparece em folguedos coletivos, vestindo kaftas coloridos e cobrindo o rosto com uma espécie capuz em tecido, lembrando os Papangus que seguiam na frente das procissões de outrora, no Recife. (Fig 03; Dig 06) Lagoa dos Gatos tem um dos melhores carnavais de Pernambuco. Atrai turistas de toda região. A figura Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
174
[14] Secretária de Cultura e Lagoa dos Gatos, Agreste Central. Às vezes o Mateus é chamado pelos moradores e brincantes de Mateu.
principal é o Mateu, pessoas que se juntam em grupos para saírem mascarados. Hoje existem blocos com o nome Mateu. Desde o início do Carnaval no município de Lagoa dos Gatos a figura que mais se destaca é o Mateu. (Elizandra Cristina 14)
Segundo Elison Lima15, o Mateu tem sua origem no Reisado. A brincadeira existe há mais de 100 anos e há quem diga que ela inspirou os Papangus de Bezerros. As pessoas saíam mascaradas de dia
[15] Secretário de Infraestrutura de Lagoa dos Gatos
e só revelavam a identidade à noite. Os mais antigos só faziam a revelação na quarta-feira de Cinzas. Hoje, têm grupos que saem com mais de 50 Mateus, com kaftas padronizados, na segunda-feira de momo. Na Mata Sul, na cidade de Jaqueira, grupos de Mateus aparecem com suas máscaras de borracha, roupas velhas, exibindo toda a criatividade própria dos brincantes. Em Maraial existe até o Concurso, premiando os brincantes mais criativos. Não há jurados: o povo é que elege as melhores participações, através de gritos e aplausos.(Teia do Mateus e Catirina/Teia do Mateus)
MASCARADO e BURRA CALÚ Presente no Reisado, a burrinha e seu dono convergem depois para o Bumba-meu-boi.
“Era uma personagem mascarada,
tendo um balaio na cintura, bem acondicionado, de modo a simular um homem cavalgando uma animália, cuja cabeça de folha-de flandres produzia o efeito desejado” (CASCUDO, 2001, p. 81). Segundo o autor, a burrinha era acompanhada de viola, ganzá e pandeiro, como o terno de Reis. Existe uma versão popular que diz que Mateus e Catirina, personagens do Maracatu rural, estavam perdidos e se encontraram com um caçador e sua burra Calu. Tornaram-se amigos e festejaram a nova amizade, dando início ao Maracatu rural. A burrinha e seu dono continuam presentes em muitos municípios da Mata Norte, que brincam o Maracatu (Dig. 07). Hoje vemos em algumas cidades a burrinha, e seu dono
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
175
mascarado, divertindo crianças e adultos. Sem estar necessariamente atrelada a outro folguedo, o brincante circula sozinho, arrastando grupos e foliões. Em Feira Nova, no Agreste Setentrional, os grupos de mascarados com suas burrinhas saem às ruas, tornando-se uma brincadeira tradicional. Os brincantes usam máscaras emborrachadas e roupas de xitão. Ao lado de Mateus e Catirina os mascarados e suas burrinhas animam o Carnaval de Bonito, Agreste Central. (Teia da Burra Calú) CAIPORA Caá significa mato e porá morador. Segundo as lendas populares o Caipora habita as matas do agreste sertanejo, amedrontando os caçadores. Tem o mesmo significado que Curupira, só que com os pés normais, voltados para frente. Esse habitante das matas faz pactos com os caçadores, que lhe presenteiam com fumo e cachaça, em troca de sua calma e proteção (CASCUDO, 2001). Foi registrada a presença do caiporinha ou caipora dentro da brincadeira do Boi de Carnaval. Andava em rodopios e saltos e chamava a atenção dos assistentes. “Figura ao mesmo tempo divertidíssima e horrível – um menino trajado como um „fantasma que já morreu‟, na fala popular, com cobertura de estopa velha e rasgada e cabeção assustador” (REAL, 1990, p. 120). Em Pesqueira, cidade do Agreste Central, conta a lenda que tochas de fogo eram vistas sobre as árvores, sendo acesas pelos Caiporas. O folguedo carnavalesco originou-se nos anos 60, tendo como principal objetivo a brincadeira de assustar a meninada. Hoje aparecem com suas enormes máscaras feitas de estopa, que cobrem a cabeça até parte do corpo. As faces, pintadas sobre o tecido, dão ao mascarado um aspecto ao mesmo tempo grotesco e engraçado. O terno escuro, as calças acetinadas, as gravatas coloridas, os braços postiços em tecido, complementam o conjunto da indumentária desses hilariantes personagens que desfilam pelas ruas da cidade (Fig. 06). Pesqueira é conhecida como a Terra dos Caiporas, o que assinala uma identidade construída a partir do folguedo dos hilários Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
176
mascarados. A pesquisa revelou uma participação da brincadeira apenas nesse município (Dig. 08)(Teia do Caipora). MASCARADOS DE BLOCOS CARNAVALESCOS Existe em Pernambuco a presença marcante de mascarados nos Blocos que animam o Carnaval nos municípios, organizados pelas escolas, pelas prefeituras, por associações, pela população. Os grupos de crianças, adultos, anciãos brincam geralmente acompanhados por bandas de músicos ou carros de som. As fantasias são livres ou seguem uma temática direcionada pelos grupos. Assim, como brincantes individuais ou com indumentárias e máscaras idênticas, os mascarados seguem à frente dos cortejos. Em alguns casos eles são em grande número. Em outros, a máscara é usada apenas por alguns dos integrantes que têm destaque no grupo. Os moradores e turistas não perdem a oportunidade de seguir esses arrastões de alegria: convite para a folia. Para a pesquisadora Katarina Real “os Blocos constituem uma das tradições mais belas e poéticas do Recife” (1990, p.35). Presentes na Capital desde o início do século XX eram denominados de Blocos Carnavalescos Mistos. No Recife, a origem se deu a partir de grupos familiares, corporações de ofícios e comunidades de bairros, que exibiam lindas fantasias e máscaras, acompanhados por instrumentos de cordas e de sopro. Os coros entoavam as marchas ranchos e frevos-canção. Entre os grupos mais antigos pode-se registrar os Banhistas do Pina, Batutas de São José, Diversional da Torre, Flor de Lyra, Inocentes do Rosarinho, Madeiras do Rosarinho e Rebelde Imperial. Alguns existem até hoje e muitos outros foram surgindo com o passar dos anos. Palhaços, Pierrôs, Arlequins, Colombinas e outros personagens mascarados enchiam de exuberância e beleza os cortejos, seguindo a temática proposta pelo Bloco, a cada ano (REAL, 1990).
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
177
Relembrando o Passado João Santiago Vou relembrar o passado Do meu carnaval de fervor Neste Recife afamado De blocos forjados de caro esplendor Na rua da Imperatriz Eu era muito feliz Vendo os blocos desfilar Escuta Apolônio o que vou relembrar.
Nos municípios interioranos também se pode registrar a existência de antigos Blocos. “O Bloco das Bruxas de Aliança, bloco muito antigo na cidade, formado só de mulheres. Existe até hoje e [16] Assessor especial de Aliança, Mata Norte
que sai na terça de Carnaval” (Oziel da Silva16) (Dig 09). Observei que em alguns grupos a temática da morte, do fantasmagórico, segue marcando o imaginário carnavalesco. Existe no Cabo de Santo Agostinho, RMR Sul, o Bloco do defunto, que sai sempre à meia noite do cemitério, com seus tenebrosos mascarados. Todos os anos um político é “enterrado” pela irreverente população cabense, que acompanha o bloco para fazer o “sepultamento” do escolhido. A brincadeira ajuda a dar voz à população desgostosa com a gestão da administração municipal. Em São José do Egito, Sertão do Pajeú, havia o Bloco Os Caveiras. “Deixou de existir. Cerca de oito anos atrás saia uma escola
[17] Diretor de Turismo de São José do Egito, Pajeú.
de samba de nome: Os Caveiras, fantasiados com roupas que parecia ser feita de ossos” (Alan Miraestes Lopes17). A referência a “escola de samba” feita por Alan é em função do acompanhamento de instrumentos de percussão e sopro, tão presentes na atualidade. Em Jaqueira, cidade da Mata Sul, o Bloco Levanta Pinguço
[18] João Bosco, Secretário de Cultura de Jaqueira.
“arrasta a multidão que sai da porta do cemitério carregando o morto, mascarado, dentro do caixão” (João Bosco18). Após percorrer várias ruas, chega a hora de desvendar o segredo, descobrindo quem é o mascarado. Aí o defunto se levanta do caixão. Existe uma premiação para quem adivinhar a identidade do morto-vivo, antes da retirada da máscara. Muitos Blocos invadem as cidades com seus trios elétricos, arrastando a multidão de brincantes (Dig. 10). Outros despertam
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
178
interesse pela criatividade dos personagens. Ainda na região da Mata Sul, no município de Maraial, há o Bloco Mulher da Trouxa. Conta a lenda que as lavadeiras da região viam, nas primeiras horas da manhã, uma mulher muito alta, com uma enorme trouxa na cabeça, que seguia seu caminho, após executar seu trabalho diário. Desaparecia sem que ninguém percebesse seu destino. “Logo surgiu a ideia do bloco, cuja personagem mascarada sai de dentro de um banheiro [19] Dona Odete é carnavalesca em Maraial
público, no centro da cidade” (Dona Odete Lima19). “Outro bloco muito criativo de Maraial é o Bicho da bananaeira.” (Zezé Matias20) Nele os brincantes recobrem o corpo com palha de bananeira e
[20] Brincante e organizadora do Bloco das Virgens de Maraial.
pintam-se com grafite. Percorrem as ruas levando tochas que ajudam a criar um cenário de medo e suspense. Em Ribeirão, no bloco das Cambindas, homens com rosto pintado, vestidos de mulher. É marcante a invasão cada vez maior nos municípios dos carros de som e trios elétricos, que animam os blocos formados por centenas de foliões uniformizados com seus abadás. Nestes grupos, geralmente aparecem mascarados, brincantes dos folguedos locais. É o caso dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira, ou dos Caretas de Triunfo, que não perdem a oportunidade de sair animando os diversos blocos de suas cidades. (Teia dos Blocos de Rua). ZÉ PEREIRA. A brincadeira do Zé Pereira provavelmente tem origem em Portugal, já registrada no século XIX. Em nosso país o folguedo marca o sábado de Carnaval, que passou a ser conhecido popularmente como sábado de Zé Pereira. Acompanhado pelos instrumentos de percussão -como zabumbas- tambores, e de sopro, traz a frente a figura de um personagem mascarado. Em Olinda, na RMR, o Zé Pereira é representado pelo boneco gigante, elegantemente vestido com paletó e cartola. Na maioria das cidades interioranas o mascarado segue em montaria, perdurando uma tradição centenária. Em Vertente do Lério, cidade do Agreste Setentrional, o Zé Pereira, sentado de costas sobre o lombo de um jumento, segue a Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
179
partir das 18h pelas ruas do centro. Uma orquestra puxa a multidão que acompanha o irreverente e ilustre personagem, protegido pelo anonimato. Em Jaboatão dos Guararapes é convidado uma personalidade para mascarar-se. O segredo é mantido até o final do desfile em carro aberto, pelas ruas do município e da cerimônia de recebimento da chave da cidade, dada ao anfitrião pelo prefeito. Nesse momento é revelada a identidade do Zé Pereira. Essa é uma tradição que perdura desde 1977, abrindo o Carnaval oficialmente. A população acompanha, anciosa pela revelação do ilustre escolhido. Na sexta-feira, às três horas da manhã, a cidade de São Benedito do Sul, na Mata Sul, acorda com o som do saxofone do maestro Joca, que entoa “acorda Maria bonita”, marcando a chegada da folia de Momo. No sábado, às duas horas da madrugada, o cortejo se repete, convidando a população para acompanhar o Zé Pereira. Segundo o fundador do bloco, o personagem tem que ter altura “para marcar presença”. Veste-se sigilosamente com paletó e coloca a máscara. Sai montado em um jumento olhando para trás. A população acompanha o desfile, bebendo pinga de maracujá. No final da folia os moradores tentam adivinhar quem é o Zé Pereira e concorrem a uma premiação. Como estratégia para que não seja revelado o segredo pelo brincante, este recebe um dinheiro para participar da brincadeira e também o valor da premiação, caso ninguém acerte sua verdadeira identidade.
[21] João Severino da Silva Filho, Seu Joca, preside o Bloco desde 1982. Músico, e regente da banda de São Benedito do Sul, com 77 anos, ele organiza a saída do Zé Pereira da antiga Casa de Farinha existente em seu sítio, hoje transformada em sede de vários blocos.
O Zé Pereira é tradição aqui. Esse Zé Pereira é uma música que é tradicional. É muito antes de mim. Isso no Brasil todo. Agora tem lugar que continua, né? Aqui mesmo eu continuava fazendo o Zé Pereira. Saía aqui do sítio. E o jumento. E o Zé Pereira; tem a roupa do Zé Pereira; tem a máscara: calça preta, paletó, gravata. Aí ele sai montado em um jumento. Sai um camarada na frente sustentando o jumento para garantir o Zé Pereira, para não derrubarem e outro atrás para não baterem no jumento para sair tudo tranquilo. Então sai a orquestra que sai daqui também (Seu Joca21).
Quipapá e Jaqueira, também na Zona da Mata Sul, vivenciam a brincadeira do segredo do mascarado, que é revelado com premiação, em plena praça pública. Os mitos de origem trazem a Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
180
influência dos ancestrais negros e indígenas.
[22] José Ernesto da Silva é filho de Quipapá, Zona da Mata Sul, 62 anos, professor de História, Geografia e Artes. Figura atuante na preservação da cultura do município.
[23] Mocotó é dono do Moka’s Bar, em Triunfo. Um incentivador da cultura local.
Veio dos ancestrais por conta dos escravos que existiam aqui, junto com os indígenas e se mascaravam de folhagem, também decorado com urucum, a pele com urucum aí faziam aquele Zé Pereira. Tem o cavalo que depois passou para o jumento. Na minha idade dos sete ou oito anos foi encontrada uma máscara gigante. Ele [Zé Pereira] usava uma máscara gigante como os bonecos de Olinda, mas essa máscara eu não sei por que motivo, a antiguidade mesmo, acabou. O tempo acabou com ela. E agora a gente usa mesmo a máscara moderna, essa máscara de borracha, porque todo Zé Pereira a gente muda o estilo da máscara. (Zé Ernesto22)
Em Triunfo, Sertão do Pajeú, o Zé Pereira segue com sua companheira, também mascarada, abrindo o Carnaval da cidade. “É uma brincadeira centenária, que acontece na noite do sábado” (Mocotó23) (Teia do Zé Pereira). TABAQUEIRO Conhecido originalmente como Papangu o mascarado indica a trajetória seguida pela brincadeira, marcada nos primórdios de sua existência pela simplicidade e feiúra. O nome Tabaqueiro refere-se ora ao que é feio, sem valor, ora ao atabaque, usado pelos negros no Carnaval dos engenhos; ou ainda faz alusão ao tabaqueiro, utensílio usado pela população local para guardar o rapé, tabaco em pó24. Hoje os Tabaqueiros estão presentes no Carnaval de Afogados
[24] Maiores detalhes no Capítulo. 02
da Ingazeira e em outros municípios circunvizinhos. Invadindo as ruas das cidades com seus macacões de cetim, máscaras de temáticas diversas, perucas com fitas brilhantes, chapéus de vários modelos, chicotes nas mãos e cintos abarrotados de chocalhos, os mascarados crescem em número e importância. Além dos chicotes, ou reios, alguns exibem poderosas armas de brinquedo, enaltecendo a temática da violência tão presente no cinema e nos vídeos da atualidade. Em sua grande maioria os brincantes utilizam as máscaras importadas, em látex ou plástico, vendidas pelo comércio local ou em cidades vizinhas. Há, nos dias atuais, uma luta para o resgate do uso da máscara artesanal, confeccionada pelo próprio brincante. Em
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
181
Afogados da Ingazeira dezenas de mascarados invadem as ruas da cidade, pedindo dinheiro aos moradores e turistas, uma prática passada através de gerações. O Concurso dos Tabaqueiros incentiva a brincadeira, premiando os mascarados que desfilam para os assistentes e jurados (Dig 11). Existe uma construção identitária da cidade de Afogados da Ingazeira a partir deste folguedo, mas, como já citei anteriormente, em nível ainda restrito ao município e regiões vizinhas. Em algumas cidades sertanejas, como em Tabira, os mascarados continuam a ser chamados de Papangus, embora tenham todas as características dos Tabaqueiros afogadenses (Dig. 12 e 13) (Teia do Tabaqueiro) PAPANGU A figura do Papangu está atrelada ao personagem tolo, ridículo, feio, tenebroso, grotesco. Assemelhando-se aos farricocos que acompanhavam as procissões das Cinzas, esses mascarados espalharam-se por diversos municípios do agreste e sertão do Estado, provocando o medo, a inquietação e também a alegria de brincantes e moradores. Hoje os Papangus continuam brincando pelas cidades e sítios, circulando nas feiras, nas ruas, nas praças, com máscaras artesanais ou emborrachadas, roupas velhas, kaftas coloridos. Em alguns municípios o folguedo tomou dimensões maiores, acionando a ligação com a estética do Belo: máscaras e fantasias luxuosamente ornadas (Dig. 14). O município de Bezerros é reconhecido, regional e nacionalmente, como a Terra do Papangu. As máscaras e fantasias dialogam incessantemente com temáticas diversas, acionando o imaginário dos brincantes e visitantes. O luxo, a originalidade, a criatividade estão presentes na indumentária dos mascarados que participam do Concurso municipal. A indústria midiática e de turismo encarrega-se de divulgar o evento da Folia dos Papangus e de trazer à cidade visitantes de diversos Estados e de outras nacionalidades. Alguns municípios vizinhos a Bezerros continuam preservando a brincadeira dos mascarados, como em São Caetano, Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
182
onde os brincantes circulam na feira no sábado de Zé Pereira. (MÜLLER; CAMPOS, 2003), (Dig.15 e 16) (Teia do Papangu). 3.1.2 A Revelação dos Mapas: a Dinâmica dos Objetos Sim, os cientistas dominam o mundo - mas desde que o mundo venha até eles sob a forma de inscrições bidimensionais, superpostas e combinadas. (LATOUR, 2001, p. 44)
Como uma boa fiandeira que se dedica ao trabalho artesanal, passei a construir teias que possibilitaram a visualização da presença das brincadeiras em todo o Estado: as áreas de maior predominância e os vazios. Embora a diversidade das máscaras fosse marcante em cada manifestação, decidi usar uma simplificação de forma, [25] Existem, por exemplo, muitas máscaras diferentes usadas pelos Tabaqueiros. Escolhi uma e fiz a simplificação da forma, para indicar o folguedo.
designando cada folguedo25. O Urso, o Papangu, o Tabaqueiro, o Careta, o Mateus e a Catirina, os Mascarados de Blocos Carnavalescos, o Caipora, Zé Pereira e a Burra Calú, passaram a formar um significativo conjunto de brincadeiras /brincantes cuja importância estava atrelada à utilização da máscara. Observei que, embora cada manifestação guardasse características e peculiaridades, os folguedos dos mascarados constituia uma rede de Conhecimento e Técnica. Um olhar mais detalhado sobre os Papangus e osTabaqueiros, no decorrer da pesquisa, permitiu um melhor entendimento dessa realidade. Os mapas trouxeram o registro da predominância das brincadeiras em determinadas regiões e os vazios presentes em outras áreas.
O
uso
da
cor
preta
indicou
a
existência
do
mascarado/folguedo nos dias de hoje. A utilização da cor cinza assinalou que a brincadeira existiu no passado, distante ou remoto, e que não foi detectada a sua presença durante o tempo da pesquisa. Presente e passado desenhando a dinâmica dos folguedos e, dessa forma, a Cartografia revelou algo sobre o movimento da tradição, mesmo que de forma limitada. No primeiro agrupamento da Cartografia uma visão dos mascarados em cada Região de Desenvolvimento; no segundo grupo de mapas, as Teias de cada folguedo, vistas no Estado.
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
183
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
184
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
185
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
186
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
187
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
188
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
189
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
190
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
191
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
192
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
193
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
194
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
195
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
196
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
197
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
198
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
199
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
200
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
201
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
202
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
203
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
204
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
205
CapĂtulo 03 - Cartografia dos Mascarados.
206
Os mapas registraram pontos que marcavam a história e passei a refletir se, como as máscaras, a Cartografia não poderia ser vista como mediadora. Para os mediadores as causas não pressupõem os efeitos. As causas apenas geram circunstâncias, ocasiões, precedentes, possibilitando alguns resultados que podem não acontecer, pois coisas diversas surgem no caminho: situações novas e imprevisíveis [26] Vide, no Capítulo 08, os depoimentos dos gestores sobre o movimento da tradição: objetos e sujeitos tecendo a história das brincadeiras.
(LATOUR, 2012). Os mapas fizeram revelações que certamente seriam sementes para reflexões mais aprofundadas no decorrer da pesquisa e em outros estudos posteriores26. Compreendi, compactuando com as idéias de Latour, que tão diminuto quanto procurar o espaço real dos lugares em um mapa é
[27] Para Charles Baudelaire trata-se de um indivíduo que anda pela cidade, experienciando-a. Segundo Walter Benjamim o flaneur está atrelado ao advento do turismo, pós Revolução industrial. O termo remete ao observador da cidade, ao pedestre, que apreende o social e o estético nela contidos.
querer captá-lo apenas pelo olhar de um único indivíduo que caminha pelas ruas de uma cidade, um flâneur27. Uma cidade não pode ser a moldura na qual um indivíduo se deslocaria, pela boa razão de que essa moldura é, ela própria, constituída por traços deixados por outros indivíduos, que se deslocaram ou que ainda estão no local. (LATOUR, 2010).
Assim, nos termos do autor, ao privilegiarmos apenas o ponto de vista do caminhante deixamos e compreender elementos particulares detectados ao se viver a cidade, seus canais e associações. A Cartografia das Máscaras foi um recorte. Para mim um segundo construído em quatro anos de pesquisa; uma representação necessária para a visualização de uma realidade efêmera. Segui, paralelamente à Cartografia, visualizando os canais que ligavam os
[28] Plasma é o pano de fundo, as circulações de totalizações e participações; as conexões entre pontos de vistas diversos. Ele nos faz mensurar a extensão do que não conhecemos em relação aos lugares. Permite visualizar a cidade em sua composição, evitando naturalizá-la ou socializá-la, num entendimento do resgate político e respeito ao que lhe é invisível. (LATOUR, 2010).
humanos, os não-humanos, os lugares, as coisas, os sentimentos, as lembranças, os esquecimentos, os silêncios, as narrativas: tudo que cercava as brincadeiras dos mascarados pernambucanos. Um olhar mais direcionado sobre os Papangus de Bezerros e os Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira teria um valor diferenciado para um melhor entendimento desse universo gigantesco. Tentei, assim, me envolver no plasma28 que cercava as brincadeiras e os lugares. Passei a seguir os fios que indicavam os temas recorrentes, presentes nas narrativas e na vida dos folguedos.
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
207
[Fig. 01] Ursos participando do Concurso em São Caetano, Agreste Central. (Acervo Severino de Assis)
[Fig.02] Triunfo, a Terra dos Caretas, orgulha-se a identidade construída através do personagem da Cultura da Tradição. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
208
[Fig.03] Grupo de Mateus no Carnaval de Lagoa dos Gatos, Agreste Central. (Acervo: Elizandra Cristina)
[Fig 04] A máscara do Zé Pereira de São Benedito do Sul. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 3- Cartografia dos Mascarados
209
4. O SEGREDO: JOGO DO MASCARAMENTO
Tenho um segredo a dizer-te Que não te posso dizer E com isso já to disse Estavas farta de o saber. (FERNANDO PESSOA). Não são os homens que fazem a natureza, ela existe desde sempre e sempre esteve presente, tudo que fazemos é descobrir seus segredos. (LATOUR, 2009, p.36).
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
210
Havia um tempo em que os homens viviam felizes, livres dos males e sofrimento. Zeus pediu a deusa Atenas que criasse um ser ainda desconhecido e que lhe desse qualidades. Assim foi criada a primeira mulher, denominada de Pandora, possuidora de grande beleza, persuasão, destreza manual e graça. Hermes, entretanto, incutiu em seu coração a velhacaria e a mentira. Zeus presenteou Pandora com uma caixa que continha segredos que não poderiam ser descobertos. Ela deveria guardar o regalo, sem nunca abrí-lo. Mas Pandora, tomada por grande curiosidade, desobedeceu as ordens do deus, revelando os segredos. Ao abrir a caixa, espalhou pela Terra todos os flagelos alí contidos, que logo se alastraram, atingindo a humanidade. Ao fechar rapidamente a tampa, restou apenas a esperança, guardada dentro do objeto. A esperança passou a ser a triste sorte, compensando os males que dominam a Terra. (GRIMAL, 2009; KURY, 2008).
4.1 O Campo do Segredo Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
211
[...] Uma pessoa se faz particularmente notável através daquilo que esconde. (SIMMEL, 1999, p.226).
Um dos maiores tesouros do homem é a possibilidade de usufruir da liberdade de viajar em seus próprios pensamentos, sem sentir-se ameaçado por ter que desvendá-los. Nos labirintos da mente e da alma moram os nossos mais caros segredos. Revelá-los, significa despojar-se de amarras, quebrar grilhões, abrir mão de escrúpulos, vergonhas e medos, dar a conhecer estratégias e astúcias. A compreensão do universo que envolve o segredo exige que seja tecida uma ampla teia em torno de outros importantes conceitos. Nessa busca, o anonimato, a astúcia, o medo, a estratégia, a motivação, a vergonha, a preservação são alguns dos tantos elementos caros para que possamos fazer uma abordagem ampla e segura sobre esse enigmático conceito. Mais que um simples ato humano, o segredo constrói um jogo que envolve e motiva, ajudando o homem a executar as suas múltiplas ações. Na família, no trabalho, nas atividades de lazer, nas relações estabelecidas com pessoas nos mais diferentes convívios, o segredo está presente, nas mais diversas formas e dimensões. Georg Simmel percebe a importância deste elemento para os estudos sociológicos, revelando ações construídas em torno do binômio ocultar-revelar. Essa é uma ponte tensional, que gera expectativa, curiosidade, ansiedade, dissimulação, diversão, motivação. “O segredo contém uma tensão que se dissolve no momento da revelação. Este momento constitui o apogeu no desenvolvimento do segredo: todos os seus encantos se reúnem uma vez mais e alcançam o clímax [...]” (SIMMEL, 1999, p.223). O segredo ocupa espaços da vida pública e privada, protegendo a tradição da arte, dos saberes, das habilidades. É justamente através dos ritos e ensinamentos das sociedades tradicionais que os mestres mantêm a cultura envolta no sagrado, no oculto, no que é revelado apenas aos escolhidos (BALANDIER, 1997). No desenvolvimento de etnografias, o segredo permeia as Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
212
atividades do campo. À medida que aumenta a confiança dos informantes em relação ao pesquisador, mais somos admitidos como confidentes. Mesmo sendo atingido certo grau de confiança, existe geralmente uma medida entre o velar e o revelar, e certas questões secretas permanecem por demais inconfessáveis para serem reveladas (BERREMAN, 1975). Nas brincadeiras da Cultura da Tradição, o segredo é um elemento imprescindível para o desenvolvimento das brincadeiras, envolvendo a todos num jogo mágico e festivo. Especificamente nos folguedos carnavalescos dos mascarados pernambucanos esse elemento representa um importante diferencial e o jogo do anonimato amplia as relações que se estabelecem durante a brincadeira. Sendo um tema recorrente, presente na quase totalidade dos depoimentos dos brincantes, o segredo, e todo o universo que o cercava, eram como alimento e ajudaram-me a tecer reflexões, a pensar sobre as máscaras, a questionar sobre a interação entre os mascarados e os assistentes. [1] Brincante, recepcionista de Hotel em Bezerros, 31 anos.
Para os brincantes o mais importante é “brincar com os conhecidos sendo desconhecido” (Erivan Feitosa1). Com seus corpos completamente encobertos e seu implacável silêncio, os mascarados atiçam a curiosidade daqueles que desejam descobrir quem está por trás das coloridas máscaras carnavalescas. Esse é um jogo de escondeesconde, no qual a curiosidade é acirrada e a máscara torna-se um instrumento do lúdico. “Assim como o mito, e aí reside para nós a sua importância, o lúdico é uma maneira da sociedade expressar-se.” (MAFFESOLI, 2005, p. 47). Mascarar-se passa a ser um misto de sedução e adivinhação: diverte e contagia, marcando as lembranças dos moradores e visitantes de cada lugar. 4.1.1 A Máscara: Vivendo o Anonimato O jogo, pois, é a arte ou a técnica que o homem possui para suspender virtualmente sua escravidão dentro da realidade, para evadir-se, escapar, trazer-se a si mesmo deste mundo em que vive para outro irreal. Este trazer-se da vida real para uma vida irreal imaginária, fantasmagórica é dis-trair-se. O jogo é distração. (ORTEGA Y GASSET, 1996, p. 51).
Os brincantes reconhecem a máscara como o elemento
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
213
primordial para que se desenvolva o jogo do anonimato e das ações que permeiam o velar-se e o revelar-se. Esses quase-sujeitos constroem
caminhos
de
entendimento
do
significado
das
manifestações, estimulando a criatividade e potencializando a imaginação de quem as usa e as observa. É a partir do mascaramento que se pode viver em um mundo de fantasia, de encantamento, de sonho. Como é característico de todo jogo, as ações construídas na relação entre o eu, brincante, e o outro, assistente, são atividades acompanhadas geralmente de uma consciência de ser que é diferente daquela da vida cotidiana (HUIZINGA, 1999). Pelo mascaramento criam-se
oportunidades
de
serem
quebradas,
pelo
menos
temporariamente, algumas barreiras sociais. Neste sentido, a máscara, inserida nos diversos contextos, produz conceitos, possibilitando a participação nas brincadeiras, suscitando sentimentos e emoções (Fig 01). Todo esse conjunto lúdico está envolto num tecido constituído de simbolismo. É relevante, portanto, apontar a importância do universo simbólico (DURAND, 2002) que impregna os folguedos estudados, delineando sua estética e suas representações do imaginário, ajudando a ultrapassar as barreiras impostas pela racionalidade desmedida (Dig. 01).
[2] Professor, 54 anos, Participa do Carnaval de Bezerros há dez anos, residente em Recife. Como ele mesmo reconhece, é um turista que virou Papangu
Quando criança brincava mascarado pela influência. Hoje brinco por opção. Acho que a mascara é quem torna o Carnaval exuberante. Toda máscara é exagerada, irreal, mas ao mesmo tempo expõe as pessoas a outras vivências e modos de comunicação com as outras pessoas, que os não mascarados não conseguem. (Frederico Braga2).
Acredito ser essencial apreender o imaginário que impregna os folguedos, como uma “[...] estrutura antagonista e complementar daquilo que chamamos real, e sem a qual, sem dúvida, não haveria o real para o homem, ou antes, não haveria realidade humana” (MORIN, 2005a, p. 80) e visualizar sua relevância para a vida das brincadeiras. A máscara apresenta-se assim como um elemento essencial para a compreensão de uma rede de relações que se desenvolvem nos Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
214
ateliês, nas residências, nas ruas, na festa carnavalesca. Como quasesujeitos e enquanto híbridos de natureza e cultura, elas falam, na medida em que testemunham: estão vivas. Misturamos, sem o menor pudor, nossos desejos com as coisas, o sentido com o social, o coletivo com as narrativas, A partir do momento em que seguimos de perto qualquer quase-objeto, este nos aparece algumas vezes como coisa, outras como narrativa, outras ainda como laço social, sem nunca reduzir-se a um simples ente. (LATOUR, 2009, p. 87).
Seguindo esse itinerário os sujeitos- brincantes e assistentes- e os quase-sujeitos, seguem juntos construindo a festa. Nessa relação há a confirmação de que a nossa humanidade está também relacionada com inumanidade dos objetos que nos cercam. A partir desta concepção, tão cara para os estudiosos da Antropologia das Ciências e das Técnicas, consegui detectar a importância de diminuirmos o abismo existente entre os homens e as coisas3(LATOUR, 2009; [3] Latour traz os nãohumanos ao centro do debate sociológico, apontando a importância deles para o entendimento mais amplo dos humanos.
LATOUR; WOOLGAR, 1997) (Dig. 02). Assim, a máscara é primordial para a viabilização do anonimato e do segredo, atiçando a curiosidade dos envolvidos na folia dos mascarados. Fazendo parte das brincadeiras infantis, dos enredos de literatura, dos relacionamentos amorosos, a curiosidade existe no próprio jogo humano. Este, por sua vez, permite que os indivíduos vivam, com intensidade, o encantamento, a magia, o sonho. “[...] Reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material. Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física.” (HUIZINGA, 1999, p.06). 4.1.2 Os Segredos de Cada Carnaval Os personagens disfarçados das cerimônias ou das festas representam uma oportunidade, uma eventualidade de mudança da ordem das coisas ou do mundo, recordam a realidade do virtual ou do possível em uma ordem estabelecida que parece ignorá-lo. (DUVINAUD, 1983, p. 90).
Além das atividades que cercam o próprio segredo do Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
215
mascaramento, existem os sigilos da preparação da festa. A cada ano, ao término do Carnaval, inicia-se uma busca por novas ideias para as festividades que virão no próximo ano. Os brincantes começam a pensar nas fantasias e máscaras que comporão sua indumentária. No âmbito institucional, as secretarias de Cultura e Turismo dos municípios procuram uma temática para direcionar as atividades do evento momesca do ano vindouro. O tema escolhido orienta todo o movimento festivo: os trabalhos de decoração da cidade, a propaganda institucional, a organização dos espaços públicos, os pedidos de financiamento e patrocínios. A partir daí, ações coletivas envolvem decoradores, artesãos, funcionários administrativos, costureiras, designers, dentre outros. Os brincantes, por sua vez, aproveitam as experiências de Carnavais anteriores, para idealizar as fantasias e adereços que serão vistas nas ruas e nos Concursos municipais. Nesse processo de busca, planejamento e realização, os coletivos entre humanos e não humanos são constituídos. Em seus ateliês, oficinas e demais espaços de criação são confeccionadas as fantasias e máscaras (Dig. 03 a 05). Quando termina o Carnaval a gente começa logo a pensar, né? Agora... fazer mesmo é uns três meses antes... estruturar [...] Minha mãe costura. Eu faço essa parte de detalhe, máscara, a ideia. (Marília Gabriela de Souza).
Geralmente as novas ideias não aparecem de imediato. Há necessidade de um tempo de maturação, de repouso, de dormência, para que a mente fique aberta aos novos insights, após a passagem do Carnaval: um período importante entre a concepção e o nascimento. Tal qual uma semente em germinação, o Tempo é um companheiro necessário para que surjam os brotos, formem-se as folhas, apresentem-se as flores, cresçam os frutos. Nesse ciclo de vida o segredo é como seiva, transformando as ações em algo mágico e prazeroso: luz necessária à criação. “O mistério, né? Eu não digo a ninguém da minha família. Só a minha mãe e as pessoas da família de dentro de casa. Mas as outras da família ninguém sabe de nada.” (Marília Gabriela de Souza) (Dig. 06). Entre o surgimento das ideias e a concretização das ações Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
216
indispensáveis à realização das festas e dos folguedos, ele, o segredo, é um companheiro de percurso, motivando a concretização dos sonhos. Preservá-lo torna-se mais difícil, quanto menor os municípios onde se desenvolvem as brincadeiras, pois, Num círculo pequeno e estreito, a formação e a preservação dos segredos se mostra difícil inclusive em bases técnicas; todos estão muito próximos de todos e suas circunstâncias, de modo que a frequência e a proximidade dos contatos implicam em maiores tentações e possibilidades de revelação. (SIMMEL, 1999, p.225).
Para mim, como pesquisadora, o conhecimento da temática que envolvia a brincadeira de cada ano era essencial, tanto para saber sobre o tema central do Carnaval institucional, como para acompanhar a participação dos grupos de mascarados. Para interagir, tive que conquistar a confiança dos informantes, brincantes e moradores envolvidos na preservação e mudanças que cercavam os folguedos. Para isso, foi fundamental retornar aos municípios durante cada ano e, impreterivelmente, antes de cada Carnaval. Foi em uma dessas visitas que ocorreram fatos que me fizeram refletir ainda mais sobre o destaque do segredo nas brincadeiras dos mascarados. Poucos dias antes do Carnaval de 2011, retornei à cidade de Bezerros. Necessitava, naquele momento, agendar um encontro com alguns grupos de brincantes para acompanhá-los durante a caminhada nas ruas no domingo de Carnaval, dia do Concurso dos Papangus. Minha intenção era ver o encontro dos integrantes de grupos de brincantes, presenciar a emoção da organização, a ansiedade das horas que antecederiam o desfile e, se me permitissem, conversar com eles antes do mascaramento. Estrategicamente entrei em contato com dois grupos. Mais do que isso seria impossível, em função de meu objetivo de presenciar a “arrumação” dos mascarados. Na secretaria de Turismo, Robeval Lima, então diretor de [4] Carnavalesco, contador, 43 anos, participante há cerca de 20 anos do Concurso dos Papangus, no grupo de Robeval.
Cultura, me apresentou Fabiano Galindo4. Foi um encontro maravilhoso! Fabiano me mostrou, sigilosamente, o croqui da fantasia, idealizado por Robeval para o seu grupo. A confecção ficaria em torno de 400 reais e era exemplo de beleza e luxo. Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
217
Trocamos os telefones de contato, após uma entrevista. Emocionado, o carnavalesco me falou sobre a importância de ser Papangu, de ver o povo aplaudindo, de se apresentar o mais belo possível na festa daquela cidade que hoje poderia ser identificada como a Veneza Pernambucana. O luxo, os detalhes das fantasias, a sofisticação das máscaras, remetia à cidade italiana, berço de tantos Carnavais e reduto dos mascarados. Percebi que novas identidades iam sendo formatadas, a partir das mudanças ocorridas na própria brincadeira: do simples e feio, tão marcantes nos primeiros Papangus, ao sofisticado e belo, presente nos Carnavais de hoje. O medo, sentimento tão forte no surgimento do folguedo, agora dava lugar à vaidade, ao orgulho, ao prazer de representar a identidade da cidade, na famosa Folia do Papangu. Ao falar da diversidade de máscaras e fantasias da atual festa de Bezerros, perguntei ao brincante se todas poderiam ser chamadas de Papangu? “Sim! Porque a partir do momento que está caracterizado, [5] O Porão Azul era o ateliê e residência do artesão-artista Sivonaldo Araújo, sempre uma referência para a Arte das máscaras dos Papangus e da cultura geral de Bezerros. O espaço foi usado como ateliê por muitos anos pelo discípulo Murilo, Albuquerque, após o falecimento do amigo. No Porão Azul funciona a ASA (Associação Sivonaldo Araújo), sob administração de Fernando Mariano, irmão do carnavalesco e artista plástico. Lá estão expostas cerca de 120 peças de Sivonaldo.
tendo luxo ou não, sendo simples ou mais elaborado, tudo faz a brincadeira.” Embora o seu grupo preferisse uma estética mais elaborada e requintada, ele assinalou a importância das fantasias mais simples, das máscaras reconhecidas como grosseiras, que lembravam os primórdios do folguedo. Fabiano demonstrou uma grande satisfação em poder me ajudar e agendamos o encontro para o domingo de Carnaval. Necessitava, porém, de outro grupo, para fazer um contraponto das vivências do campo, importante aspecto para a reflexão. Segui, então, para o ateliê de Murilo Albuquerque. No Porão Azul5 ele executava diversas máscaras, juntamente com outros artesãos-artistas. Murilo foi também muito receptivo em relação ao meu pedido de acompanhar o seu grupo, formado por parentes e amigos. Pediu, porém, que eu não comentasse com ninguém que seu grupo sairia
[6] Murilo participou em 2011 do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E juntou-se ao grupo ao retornar do Rio. Vide Capítulo 06.
naquele Carnaval, pois seria uma surpresa para todos, visto que ele estaria no desfile do Rio de Janeiro6 e chegaria “em cima da hora” para juntar-se ao grupo. “Ninguém acha que vamos sair. Será uma surpresa.” Aquela simples frase serviu para reforçar a importância do Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
218
sigilo para os Papangus, sentimento que perdura até hoje com toda sua significação. Assim, com os contatos estabelecidos, tive a honra de acompanhar a preparação dos mascarados no Carnaval de 2011. Essa, certamente, foi uma prova da confiança que me deram. Afirmei que guardaria a sete chaves o segredo de cada grupo. No Carnaval 2011, iniciei minha caminhada em busca de novas informações. Ainda muito cedo, o domingo amanhecia levando os moradores às ruas. Muitos organizavam os últimos detalhes para o dia de festa que traria uma multidão de visitantes à cidade, mudando, como nos outros anos, o cotidiano costumeiro. Aquela era uma oportunidade de receber os amigos e parentes, ampliando as relações marcadas pela hospitalidade e alegria. Era, também, um dia propenso ao comércio, para a venda de alimentos, máscaras, fantasias, bebidas, souvenirs, e uma gama imensa de produtos que chamavam a atenção dos turistas. Segui às oito horas para o Porão Azul, lá encontrando Flávia Albuquerque, irmã de Murilo. Espalhadas pelo ateliê brilhavam as fantasias prateadas, que faziam jus ao nome de batismo: Papangu Futurista. Os cds dependurados no tecido prata, os chapéus que lembravam os do Arlequim, fantasias reluzentes, tudo formava um conjunto mágico, que atrelava a tradição à modernidade. Nos adereços de mão, as máscaras também estavam presentes. Elas eram semelhantes, mas traziam pequenos detalhes que davam uma identidade a cada uma. Lembravam muito a estética de algumas máscaras de Veneza. Sorridentes, aqueles objetos cheios de vida esperavam ser colocadas pelos brincantes. Flávia, acompanhada por uma amiga, experimentava as fantasias nos companheiros de grupo que chegavam demonstrando ansiedade (Digs. 07 a 09). Fico sempre muito emocionada ao me lembrar da forma como fui recebida, acolhida e ajudada em minha caminhada nas trilhas do campo da pesquisa. Aquele foi mais um momento no qual os brincantes abriram suas portas e seus corações para que eu pudesse compartilhar de seus segredos: uma prova de confiança e amizade. Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
219
Tentei ao máximo não atrapalhar a organização, mas sabia que a minha
presença
constrangimento
causava
certa
camuflado
pela
ansiedade cortesia
ao e
grupo, delicadeza
um da
hospitalidade. Enquanto se vestiam, falavam da expectativa de conseguirem, naquele ano, a colocação máxima no Concurso dos Papangus: o prêmio de melhor grupo na categoria luxo. Interessante registrar que eles estavam com um patrocínio, prática que não havia ainda visto na pesquisa com os Caretas e no Carnaval de 2010 em Bezerros e [7] Pertenciam ao grupo Murilo Albuquerque, Flávia Albuquerque (30 anos, gerente comercial), Geraldo Queiroz (35, artesão-artista), (João Pedro Brainer (34, eletricista), Sandra Freitas (21, analista de recursos humanos) e Tatiane Brainer (26, recepcionista).
[8] O grupo era formado por Fabiano Galindo (43 anos, contador), Alexandre Silva (27, contador), Eliane Guilhermino (32, oficial administrativa), Edivan José e Maria de Fátima Pessoa (50, professora).
Afogados da Ingazeira. Na fantasia traziam a logomarca do patrocinador, que prometera financiar uma bandinha de música para seguir o grupo nas ruas de Bezerros. Naquele momento não fiz entrevistas, apenas algumas perguntas para que pudesse sentir a emoção dos brincantes nos preparativos. Registrei os contatos, nomes7 e e-mails e deixei o ateliê, para que pudessem, de forma mais livre, se preparar para o percurso na cidade. Segui caminho ao encontro do grupo de Fabiano8. Novo acolhimento, mais carinho e apoio. Na casa dos pais de Alexandre Silva, um dos quatro dos componentes do grupo, todos cercavam as luxuosas indumentárias. Fiquei impressionada com os detalhes, os tecidos bordados, a riqueza da elaboração das fantasias e na beleza das máscaras. Estas estavam presentes em toda parte: tanto para encobrir o rosto dos brincantes, assegurando-lhes o anonimato, quanto nos detalhes das fantasias e nos adereços de mão. O croqui elaborado por Robeval tomou forma, brilho, cor, vida! E agora tinha um nome: Um Mundo de Sonhos na Terra do Papangu (Fig. 02, Digs. 10 a 12). Em
poucos
minutos
Fabiano
entrou
na
residência
demonstrando grande excitação e me abraçou sorridente. Era um momento de muita emoção, pois em poucos instantes estariam nas ruas, sendo aplaudidos, filmados, fotografados e pondo em ação toda a vaidade que era bem própria dos brincantes. Fátima Pessoa, outra integrante, me perguntou: “tem muita gente nas ruas?” A ansiedade lembrava a preocupação de uma Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
220
adolescente que vai para seu baile de debutante. Longe de ser uma estreante, Fátima já tinha participado de 19 Concursos, sendo muitas vezes premiada. Mas o nervosismo era como tatuagem na pele daqueles Papangus, não importando o tempo que já tinham na brincadeira: cada ano um sentimento novo, único, revitalizado. Logo começaram a se vestir, me deixando partilhar daquele momento ímpar. Dividiam a alegria de estarem juntos, entre parentes e amigos, mascarando-se para serem Papangus - representantes de sua cidade. Ali, eu e o espelho, testemunhávamos o encanto e a ansiedade dos brincantes (Fig. 03; Dig. 13). Vejam que responsabilidade a minha! Eu acabara de vir do ateliê de Murilo e me encontrava ali, participando de todo o processo sigiloso de preparação do outro grupo, “rival”, que disputaria também uma colocação no Concurso. Na verdade tratava-se de amigos próximos, que durante a pândega carnavalesca primavam por preservar o anonimato e o segredo da brincadeira. Os sigilos de cada grupo estavam muito bem guardados nos registros de meu caderno de campo, nas fotografias de minha máquina e em meu coração, que saltitava de alegria pela oportunidade que tinham me dado de viver os mais íntimos momentos dos dois grupos de mascarados. Usufruindo desta sensação, deixei a casa de Alexandre e prossegui minha andança pelas ruas de Bezerros, seguindo para a concentração na Praça São Sebastião, onde o Bloco dos Papangus iniciaria o desfile, acompanhado pela multidão de moradores e turistas. Logo os grupos de Murilo e Fabiano estariam brilhando nas ruas da Terra dos Papangus (Dig. 14). Como em Bezerros, os Carnavais que passei em Afogados da Ingazeira foram reveladores da importância do sigilo, do anonimato, da astúcia na brincadeira compartilhada coletivamente. Também para os Tabaqueiros, mascarar-se significava mais que esconder o rosto: primordialmente velar, mesmo que temporariamente, uma identidade. Mascarar-se indicava também, acionar novos elementos da revelação de outra face, de uma nova identidade que se construía no jogo que cercava o folguedo. Nesse movimento lúdico entre ser e não ser, existia uma relação primordial entre o eu, mascarado e o outro, assistente, Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
221
fosse ele morador, visitante ou pesquisador. Numa perspectiva de troca, de emoção, de interação, o segredo revelava-se sempre como a base da brincadeira e eu também estava atrelada a este universo encantado. Mestre Beijamim já havia me falado sobre a importância de viver o segredo e o anonimato propiciado pela máscara. Lembrava , quando criança, da necessidade de camuflar-se para brincar no Carnaval e a satisfação vivenciada, quando o anonimato possibilitava a brincadeira compartilhada com os amigos. Sabe o que melhor de sair de Tabaqueiro? Quando a pessoa não lhe conhece. Quando você chega assim, conversa, a pessoa não sabe quem você é e ainda lhe dá um agrado. “Toma um real prá tomar uma”. (mestre Beijamim).
Sabia que o segredo existente no contexto das brincadeiras estava cercado de astúcia: um jogo entre falar e silenciar, entre mostrar e esconder. Refletir sobre essas questões fazia com que eu me sentisse motivada a trilhar, mais e mais, os labirintos que cercavam as manifestações da Cultura da Tradição: as disputas entre os grupos, as revelações do mascaramento. Todos esses elementos estiveram presentes no meu dia-a-dia no campo. E, pensando nisso, percebi o quanto esse universo podia levantar questionamentos a serem inquiridos por mim, que certamente ajudariam na minha prática enquanto pesquisadora. Muitas foram as ocasiões que serviram para ampliar essa reflexão. No Carnaval de 2011, em Afogados da Ingazeira, fui visitar novamente o mestre Beijamim, na segunda-feira, manhã do dia do Concurso municipal dos Tabaqueiros. Naquele ano ele e também a filha, [9] Rosane Emily é brincante desde pequenina. Hoje com 15 anos, participa sempre dos Concursos, tendo sido premiada por diversas vezes.
Rosane Emily9, participariam do evento. Em sua casa, sobre a mesa da cozinha transformada em ateliê, estavam algumas máscaras em processo de finalização. Eu perguntei se poderia fotografá-las e Beijamim concordou imediatamente (Dig. 15). Após uma longa conversa sobre o Carnaval, os preparativos para a saída à cidade logo mais, a alegria pela participação da filha na brincadeira, deixei a casa, ansiosa por vê-los na visitação às ruas e à noite, no Concurso.
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
222
À tarde, ao encontrar o grupo de Tabaqueiros, próximo à casa de Beijamim, logo o reconheci, pela máscara artesanal que usava e pela liderança à frente do grupo (Fig.04). Após acompanhá-los até a Praça da Matriz, segui-os até um clube, onde foram descansar e lanchar. Aquela era uma cortesia do vereador Zé Negão, que sempre apoiava o grupo de Tabaqueiros liderado por Beijamim. Ao entrar naquele espaço repleto de brincantes, aproveitei para fotografá-los, quando estavam mais relaxados, sem máscara. Naquele momento, a atitude de um dos adolescentes me fez pensar no quanto eu poderia me tornar inconveniente com aquela atitude. Ao perceber que estava sendo fotografado, o brincante colocou imediatamente a máscara sobre a face, revelando o seu constrangimento por ter sua identidade desvelada e registrada, quebrando o segredo do anonimato. Passei, a partir dali, a ter mais cuidado com os registros fotográficos, uma forma de respeitar o sigilo tão almejado (Dig. 16 e 17). À noite, na Praça de Alimentação, próximo ao palanque onde haveria o Concurso, vi um Tabaqueiro que se destacava de paletó branco e enorme sorriso da sua nova face: uma máscara artesanal com perfeito acabamento. Lembrei que aquela era uma das máscaras que eu havia fotografado na casa do mestre Beijamim. O charmoso Tabaqueiro era ele, encostado no poste, a exibir orgulhosamente toda sua elegância e criatividade. Chegando próximo, lhe disse ao ouvido: “Eu sei quem você é!”. Ele me abraçou, reconhecendo que tinha sido descoberto. Provavelmente sorria por trás da máscara de largo sorriso (Dig. 18). É interessante salientar que, quando estive em sua casa naquela manhã, ele manteve o segredo necessário à preservação do anonimato. Em nenhum momento fez menção que, sobre a mesa de trabalho estava a máscara que usaria no Concurso à noite. Naquele momento o segredo foi muito mais importante que a vaidade e o silêncio muito mais valioso que o desejo de exibir-se ou o desejo de receber um elogio sobre a arte de sua nova criação: a máscara que transbordava alegria. Na Praça da Alimentação, entre a multidão de assistentes e Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
223
brincantes exibindo as máscaras industrializadas e as roupas acetinadas, eu vi Rosane Emily, a filha de Beijamim. Posicionou-se distante do pai, em outro lado da Praça, para não despertar desconfiança dos assistentes: observei logo que aquele era uma colocação estratégica. A reconheci pela máscara artesanal, totalmente diferente
das
emborrachadas
ou
plásticas,
da
maioria
dos
concorrentes. Ela sabia que eu a havia descoberto, mas ficou parada, sem fazer nenhum movimento de acolhimento, para que eu mantivesse sempre uma dúvida sobre sua identidade. Novamente cheguei próxima ao rosto mascarado e disse: “Estás uma beleza”. Ela acenou com a mão, comprovando as minhas suspeitas (Dig. 19). A magia do segredo mais uma vez ditou a conduta de comportamento dos brincantes. Com suas sutis atitudes o Tabaqueiro no clube, o mestre e sua filha me deram uma lição sobre o valor do segredo e a importância do anonimato para a brincadeira dos mascarados afogadenses. Lembro-me que em outro momento, no Carnaval de 2012, quando tentei me aproximar de um Tabaqueiro que descansava na Praça da Matriz, sem máscara, ele, ao perceber minha presença, desceu apressadamente a carapaça sobre o rosto, encobrindo-o. Perguntei se podia conversar um pouco; respondeu afirmativamente, mantendo o rosto coberto e disfarçando a voz com um timbre muito agudo. Os brincantes percebiam que eu não era da cidade e continuavam usando a estratégia da voz em falcete quando se dirigiam a mim. Mesmo que não disfarçassem a voz eu não os reconheceria, pois, na verdade, não os conhecia. Entretanto insistiam com o jogo da dissimulação e, como diz o ditado popular, era “melhor prevenir que remediar” (Dig. 20). Eu estava sempre aprendendo com os mascarados e construindo, com eles, o conhecimento sobre os folguedos. Aquela era a ciência formatada na brincadeira e pela brincadeira, vivida e experienciada no folguedo. A magia do segredo direcionou as relações estabelecidas: o mascaramento possibilitou o jogo do anonimato e, no caso, passou a influenciar também nas ações do pesquisador.
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
224
[Fig.01] A máscara suscita sentimentos, produz interação. Tabaqueiros, Carnaval 2011. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 02] O grupo de Fabiano: Beleza nas ruas. (Acervo Julio Pontes)
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
225
[Fig. 03] O Espelho registrava os momentos de ansiedade. (Acervo Graça Costa).
[Fig.04] Mestre Beijamim (máscara vermelha) com seu grupo, nas ruas de Afogados da Ingazeira (Acervo Graça Costa).
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
226
A mitologia está sempre envolta em mistérios, astúcias, segredos. No panteão das divindades gregas Nix representa a deusa dos segredos e mistérios da noite. Revelada como protetora das feiticeiras e das bruxas, era conhecedora do segredo da imortalidade dos deuses, podendo, por esse motivo, transformá-los em pobres mortais. Temida e respeitada pelos seus poderes, tinha o dom de assistir aos acontecimentos do universo sem ser notada, pois estava envolta em um capuz que a tornava invisível. Nix e Hipnos, deus do sono tiveram um caso de amor e dele nasceu Morfeu, deus dos sonhos e pesadelos. Como o seu pai, ele possuía asas enormes, que lhe permitiam viajar pelos mais longínquos lugares da terra. Sendo uma divindade responsável pelos segredos da transformação, Morfeu conseguia assumir qualquer forma humana e aparecer no sonho das pessoas. Entregar-se aos seus braços significava viver, pelo menos temporariamente, o prazer de sonhar. (AQUINO, 2007).
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
227
4.2. Máscara: Possibilidade de Ser “um Outro”
[1] Muitos autores trabalham em suas obras o conflito entre o ser e o ser outro. Dostoiévski, por exemplo, usa o duplo como recurso literário: personagens com sentimentos contraditórios, marcados pela dicotomia possibilidade/ impossibilidade do ser. Eles vivem diálogos interiores, em um conflito entre a vontade individual e a coerção social. Nessa linha, criou a novela psicológica O Duplo, (1846) (VIEIRA, 2010). Visando estabelecer as relações entre o mesmo e o outro, Augé (1997) reflete sobre as questões de identidade e auteridade. Enquanto a identidade trabalha categorias de exclusão, inclusão ou acumulação, a linguagem da alteridade situa-se sob o signo da ambiguidade: relações problemáticas entre o eu e o outro, ou outros. Deleuse, por sua vez, observa as dificuldades propiciadas pelo dualismo e dicotomia do pensamento, abordado por pensadores da Filosofia e de outros campos. Através de um procedimento de colagem observa a questão do duplo concebido como uma repetição da diferença. Destaca também a temática da dobra: coexistência entre o de-fora e o de-dentro, sem oposição (MACHADO, 2009).
As produções do imaginário não estão destinadas à transmissão da palavra: inscrevem-se nos sistemas de práticas mais ou menos dramatizadas, chegam à materialidade por meio da criação artística – principalmente a arte das máscaras. (BALANDIER, 1997, p.144).
A dinâmica da inversão existente nas manifestações rituais ou festivas possibilita a alteração temporária dos papéis sociais. “Tudo é dito pelo disfarce [...]” (BALANDIER, 1997, p.129) e nesta perspectiva, o mascaramento propicia o jogo do anonimato, de suma importância para a viabilização da inversão dos papéis. Então a desordem, ou nova ordem, é construída. Traduzida como o motivo mais complexo e carregado de sentido nas manifestações populares, “a máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único, a negação da coincidência estúpida consigo mesmo [...]” (BAKHTIN, 2002, p.37). E revelando com clareza a profunda essência do grotesco, ela “[...] encarna o princípio do jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-relação da realidade e da imagem, característica das formas mais antigas dos ritos e espetáculos”. Assim, nas representações populares “[...] a máscara recobre a natureza inesgotável da vida e seus múltiplos rostos” (BAKHTIN, 2002, p.35). Como Georges Balandier, Mikhail Bakhtin e tantos outros autores percebem que esses quase-sujeitos, e o segredo por elas viabilizados,
são
importantes
elementos
para
os
estudos
antropológicos. Rompem-se as censuras e as conveniências, revertendo-se as hierarquias em favor da máscara. Esta, mais do que um acessório, é um instrumento que possibilita ser um outro, onde o duplo1 é vivenciado. Nas brincadeiras da tradição é marcante a inversão de papéis, tanto no âmbito da estratificação social, quanto em relação aos elementos que caracterizam o gênero. A troca dos papéis masculinos e femininos viabiliza, pelo menos no tempo restrito da festa, uma
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
228
mudança permitida: a máscara ajuda na caracterização dos personagens masculinos e femininos, os quais se posicionam ao avesso das regras que regem o comportamento real (Fig 01). Em diversas partes do mundo a máscara propicia a materialização de figuras presentes em classes sociais diferenciadas daqueles que as usam. Topeng é um tradicional teatro de máscaras, dançado e musicado, no qual personagens arquétipicos da sociedade balinesa são retratados: os reis são personificados através do mascaramento. Para os balineses faz-se necessário, contudo, evocar o espírito do personagem retratado pela máscara e assim fazer a ligação com o universo do sagrado (BALI, 1990). No jogo do ser um outro “a mais importante inversão é a dos papéis femininos e masculinos, que tem como característica ridicularizar ou suprimir a sociedade masculina durante o tempo de sua realização” (BALANDIER, 1997, p. 133). No Carnaval as mulheres utilizam-se de símbolos e signos próprios do universo [2] Neste sistema de imagens presente na Cultura cômica popular, o princípio material e corpóreo se faz presente de forma significativa: magnífico, exagerado, abundante e infinito. Utilizando-se de imagens das partes inferiores do corpo, trabalha com a ambivalência e contradição. Essas imagens afastam-se dos padrões clássicos de beleza. A velhice, o coito, o parto, as dimensões exageradas do corpo, são alguns dos elementos apresentados nos sistemas de imagens grotescas. (BAKHTIN, 2002).
simbólico
masculino
e
fazem
a
inversão
das
condutas
reconhecidamente femininas. O mesmo acontece com os homens. Nesse jogo, o realismo grotesco2 explicitado por Bakhtin (2002), assinala a importância corpórea, a abundância e o exagero, ligados ao baixo material e corporal (Fig. 02; Dig. 01e 02). As máscaras e fantasias ajudam na elaboração da linguagem carnavalesca, cercada de formas e símbolos, envolta no riso festivo. Este faz parte do patrimônio popular, sendo geral e universal, pois está presente em todo tempo-lugar e é compartilhado por todos, brincantes e assistentes, nas diversas culturas. Sendo ambivalente, o riso é também alegre e repleto de alvoroço: de forma simultânea ele nega e afirma, amortalha e ressuscita, sendo duplamente burlador e sarcástico (BAKHTIN, 2002). Ser um outro é uma questão que traz à tona a problemática da controvérsia, essa noção essencial para entender traços constitutivos da sociedade de que fazem parte os personagens múltiplos. “A controvérsia é uma espécie de drama social, que revela, mas também reconfigura definições de realidade, explicitando o conflito que existe Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
229
em torno dessas definições” (GIUMBELLI, 1992, p.97). Para Latour, atentar para as controvérsias é visualizar as incertezas, o imprevisível, quanto à natureza dos grupos e das ações por eles desenvolvidas. As controvérsias são como um adubo para o melhor entendimento do mundo e das coisas e permitem que os pesquisadores rastreiem as conexões sociais. “[...] As controvérsias em torno da ação devem ser exploradas a fundo, por mais difíceis que sejam, pois assim não se simplifica de antemão a tarefa de reunir o coletivo” (2012, p. 80). Acredito que a pândega carnavalesca permite que elementos controversos sejam vivenciados na liberdade festiva. Ressalto que a máscara possibilita se viver o duplo. Ao mesmo tempo em que o homem reconhece-se objetivamente no rosto que conhece e esconde, através do segredo, vive a subjetividade do novo rosto que se mostra, um outro si mesmo, real na alteridade. Assim vivencia seu duplo, através do ser escondido e do novo-ser revelado. Fico impressionado com a reação das pessoas à fantasia e à máscara. Eu as vejo e ao mesmo tempo vejo a máscara, mas elas não me vêem e se relacionam com o personagem. Acontecem as coisas mais inusitadas. Com certeza ela [a máscara] tem vida própria. (Frederico Braga).
4.2.1 O que Revela e o que Esconde: Quebrando Grilhões. Brincamos e rimos quando o esperado (que geralmente traz sombras e inquietude) se realiza sem causar danos. É o prazer dos escravos nas festas saturnais (NIETZSCHE, 2006, p. 175).
Pensando sobre a escravidão que tanto marcou nosso país, me vem à mente um quadro com personagens vivendo as injustiças sociais, cativos de liberdade, sujeitos às torturas, desprezo e desrespeito.
“[...] Com a experiência do rebaixamento e da
humilhação social, os seres humanos são ameaçados em sua identidade da mesma maneira que são em sua vida física com o sofrimento de doenças” (HONNETH, 2003, p. 219). Os escravos eram indivíduos subjugados, controlados pela vontade de seus proprietários, os autoritários e implacáveis senhores de engenho. Erguida sob tensões, conflitos e disputas, a escravidão
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
230
produzia cativos, tanto fisicamente, quanto moralmente. Os negros eram subjugados pelos seus senhores e os próprios filhos dos donos dos engenhos eram submissos às ordens de seus pais, que não queriam a aproximação com os escravos. “Famílias dos fazendeiros, dos brancos que não permitiam. Existia e ainda hoje existe a questão do preconceito. E era muito forte, até porque além de serem negros ainda eram escravos, né?” (Celso Brandão). Numa busca constante de meios para sobreviver às amarguras impostas por essa situação, os momentos festivos assinalavam algumas saídas, novos itinerários, rupturas de um cotidiano amorfo. O mascaramento apresentava-se, então, como astúcia: um instrumento para superar as desigualdades de poder, prestígio e recursos materiais. Algumas vezes os sentimentos de desrespeito, de vergonha social, de vexação, transformam-se numa poderosa arma e fonte de motivação para ações de resistência política e surgimento de movimentos
coletivos.
É
uma
busca
para,
pelo
menos
temporariamente, se ter de volta o respeito e a dignidade perdida pelo julgo opressor. A „honra‟, a „dignidade‟ ou, falando em termos modernos, o „status‟ de uma pessoa, refere-se [...] à medida de estima social que é concedida à sua maneira de auto-realização no horizonte da tradição cultural [...]. (HONNETH, 2003, p. 217).
Acredito que podemos pensar que o mascaramento, o uso do relho, a organização dos grupos nas brincadeiras sejam exemplos dessas experiências de luta. Mascarado o escravo encontrava uma condição favorável para poder participar de rituais lúdicos, sem correr o risco de ser reconhecidos e penalizados por isso. As brincadeiras tornaram-se assim, formas pacíficas de resistência. Segundo Marilena Chauí as manifestações populares também se revelam como expressão de um tipo significativo de resistência Resistência que tanto pode ser difusa – como na irreverência do humor anônimo que percorre as ruas, nos ditos populares, nos grafites espalhados pelos muros das cidades - quanto localizada em ações coletivas ou grupais. Não nos referimos às ações deliberadas de resistência [...], mas a práticas dotadas de uma lógica que as transforma em atos de resistência. (CHAUÍ, 1986, p. 63).
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
231
Como já assinalei, dentre os mitos de origem das brincadeiras, tanto no folguedo dos Papangus, quanto dos Tabaqueiros há indícios da relação com a problemática da hierarquia entre escravos e senhores de engenho das áreas estudadas. Realmente nos dois municípios houve uma marcante presença dos escravos negros, cuja mão de obra foi usada na agricultura e outros serviços. Em Afogados da Ingazeira as comunidades de Leitão da Carapuça, com cerca de 30 famílias e a de Jiquiri3, com 15 famílias contam ainda hoje com descendentes de escravos que vieram das regiões de Carnaíba das Flores, Ribeira e [3] Na comunidade de Leitão da Carapuça algumas mulheres desenvolviam o artesanato com palha de coco para fazer vassouras e com cipó, para confeccionar balaios. Em Jiquiri prevalecia o artesanato de barro. O uso de ervas no desenvolvimento da medicina tradicional sempre foi marcante (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 2006)
também do Moxotó, áreas marcadas pela escravatura (Ilustração 01).
Ilustração 01: Comunidades Quilombolas de Leitão da Carapuça e Jiquiri.
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
232
No século XIX, os negros fugidos de regiões próximas à Bezerros formaram uma comunidade quilombola, encravada em um pé de serra. A comunidade de Guaribas de Baixo ainda existe, localizado no distrito de Boas Novas, com aproximadamente 100 famílias.
Ilustração 02: Comunidades Quilombolas de Guaribas de Baixo.
Em Bezerros a história oral assinala o uso das máscaras pelos negros, desejosos por usufruírem dos regalos oferecidos pelos moradores dos engenhos aos mascarados, durante o Carnaval. Em Afogados da Ingazeira houve o uso das máscaras pelos filhos dos
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
233
abastados latifundiários, como forma de participarem da pândega dos negros nas festividades carnavalescas. O termo Tabaqueiro poderia vir da referência com os instrumentos usados pelos escravos, nas festividades carnavalescas: “do atabaque que os negros batiam enquanto desfilavam. Os brancos não tinham a permissão dos pais para brincar junto com os negros aí eles se fantasiavam, colocavam máscaras, e essa coisa toda” (Celso Brandão). Celso esclarece que em torno do povoamento que era Afogados da Ingazeira existiam várias fazendas e os escravos vinham para a cidade, a sede, para fazer os folguedos e brincar o Carnaval. Aí os abastados filhos dos brancos queriam participar da pândega carnavalesca e se mascaravam. Para poder se juntar aos negros. Então isso é o que conta a lenda, né? A história, a gente não tem nada assim, digamos, oficial. Que na realidade é uma coisa lógica também né? Que a gente vê que surge a atitude exatamente para que houvesse a união de brancos que não tinham preconceitos junto com negros que faziam esse folguedo e que brincavam dessa forma (Celso Brandão).
Nas duas versões sobre os primórdios das manifestações há a mesma revelação: a máscara, nos diversos contextos, gera conceito, pois esses quase-sujeitos falam sobre a possibilidade de ser outro, e, pelo mascaramento, de serem quebrados, temporariamente, os grilhões que marcavam as relações hierarquizadas da escravidão em nosso país. A Porta do Tempo (Juraildes da Cruz) Tem uns que acham que o branco Não pode ser negro porque dói E negros que não vê os brancos Com raios brilhantes dos olhos Se um fosse outro não doía Ser negro não é ser contrário As cores não brilham sozinhas De noite a estrela é um claro
As brincadeiras ajudaram na aquisição das condições sociais sob as quais os sujeitos podiam chegar a uma atitude positiva para com eles mesmos: autoconfiança, auto-respeito e auto-estima
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
234
(HONNETH, 2003). Os negros e negras se mascaravam para poder manifestar suas alegrias e insatisfações, eles reinterpretavam muito bem a vida cotidiana de seus senhores através das festas carnavalescas onde saiam dançando e imitando seus senhores e senhoras, onde eram geralmente policiados e repreendidos pelos seus senhores que a chamavam de crioulos safados e folgados. Daí o nome folguedo. Muitas dessas histórias são baseadas na oralidade. Essa história ouvi de um mais velho chamado Tio Mira da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, berço dos carnavais e blocos burlescos de máscaras. (Sônia Ribeiro4).
[4] Socióloga, diretora de cultura de Santa Maria da Boa Vista, Sertão do São Francisco.
É importante refletir que, quando o agir humano habitual está em crise, existe uma busca por outros itinerários, onde as crises de sentido possam ser superadas. “Tempos difíceis e ameaçadores podem levar ao surgimento de crises de sentido em alguns setores da vida. Mas mesmo aqui outros setores continuam sob a influência de costumes antigos significativos.” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 65). A participação no Carnaval ajudava na formação temporária de uma nova identidade, propiciada pelo anonimato e segredo. Assim rompiam-se barreiras sociais e quebravam-se amarras. Durante a pesquisa com os Caretas de Triunfo, constatei que os moradores acolhiam os brincantes mascarados, pois, durante a pândega carnavalesca eram figuras representativas da cultura tradicional local. Ali, no tempo simbólico vivido nos dias de folia, eles possuíam um status: representantes da cultura da tradição da cidade (Dig.03). Neste contexto quebravam-se algumas barreiras de divisão de classe, gênero, cor, credo, idade. As máscaras e a fantasia que lhes encobriam os corpos possibilitavam o anonimato necessário para as relações que se estabeleciam no momento da brincadeira. Minimizavamse ou até destruíam-se algumas amarras sociais neste momento de troca, quando o brincante assumia uma outra posição dentro da estrutura social: a de ser Careta. (COSTA, 2009a, p.114).
A máscara foi usada pelos negros em muitas regiões do país, como possibilidade de agir, brincar e ironizar de uma situação vivenciada no dia a dia: o tolhimento da liberdade e do respeito.
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
235
Também o uso dessa mesma estratégia por parte dos filhos dos senhores de engenho assinala o medo do enfrentamento de “cara limpa” e a nova possibilidade de ser, trazida pelo uso da máscara. As festas dos
negros
eram
proibidas
ou
segregadas,
para
evitar
a
“contaminação” dos brancos, mas, para os filhos dos senhores dos engenhos de Afogados da Ingazeira representavam uma forma de atingir, mesmo temporariamente a liberdade de se divertir, de tocar um instrumento, de compartilhar com as tradições dos negros. De uma forma ou de outra, um novo status era atingido, pelo mascaramento nos dias de Carnaval. A máscara mais uma vez prova sua importância, ao lado dos indivíduos e grupos. Como um ator, viabiliza que ações: atua como mediadora. Como a máscara, o chicote também me fez pensar na importância dos objetos na vida dos sujeitos. O relho, chicote usado desde os primórdios da brincadeira até hoje, pode remeter ao uso do instrumento de punição dos negros. Acredito que o relho da brincadeira do Careta pode ser pensado com toda a carga de simbolismo que representa: instrumento que atiça, afasta, tange, juga, corta, fere e sangra. Marca a pele e a lembranças, suscitando o medo. (COSTA, 2009a, p.88)
Da mesma maneira que assinalei em relação ao folguedo dos Caretas, a brincadeira dos Tabaqueiros revela esse instrumento tão marcado pela carga simbólica do jugo e da violência. “E aí também tinham os relhos e esse relho é um dos fatores, né? Que lembra também a questão da escravatura, né? Essa questão do chicote” (Celso Brandão). Não consegui registros sobre o uso dos chicotes pelos antigos Papangus de Bezerros. Entretanto os mascarados ainda hoje carregam uma varinha, que amedronta e causa incômodo aos assistentes. (Dig.04). Os chicotes viabilizavam o duelo entre os brincantes e também mostravam a força e resistência através do jogo (Fig.03). A máscara, os chicotes, a indumentária, construíam, conjuntamente, secretos personagens, que vivenciavam, de forma plena, o segredo, quebrando os grilhões que cotidianamente os aprisionam e criando novas e temporárias identidades (Fig.04).
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
236
4.2. Máscara: Possibilidade de Ser “um Outro”
[Fig.01] Marília Gabriela de Souza transformou-se em Luiz Gonzaga na Folia dos Papangus: primeira colocação no Concurso 2012. (Acervo Marília Gabriela)
[Fig 02] Ser outro, temporariamente. (Acervo Marília Gabriela)
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
237
[Fig.03] O chicote traz uma carga de simbolismo: instrumento de maltrato adequando-se à brincadeira.. (Acervo Graça Costa)
[Fig. 04] Chicote: arma para o duelo. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 4 - O Segredo: Jogo do Mascaramento
vvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv
vvvvvv vvvvvvv annemichel1957@hotmail.com Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos Volume II
Maria das Graças Vanderlei da Costa
vvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv
vvvvvvvvv vvvvvvvvv
vvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvvvv vvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv vvvvvvv Recife 2013
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA CURSO DE DOUTORADO
Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos Volume II
Maria das Graças Vanderlei da Costa
Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Lopes Nogueira Co-orientadora: Profa. Dra. Fátima Teresa Braga Branquinho
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Antropologia
Recife 2013
Catalogação na fonte Bibliotecária Divonete Tenório Ferraz Gominho, CRB4 -985 V838l
Costa, Maria das Graças Vanderlei da. Lugares, tradições e rostos: máscaras no carnaval de Pernambuco objetos que falam sem calar sujeitos / Maria das Graças Vanderlei da Costa. – Recife : .O autor, 2013. 2.v : il. ; 30 cm. Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Maria Aparecida Lopes Nogueira. Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Teresa Braga Branquinho. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 2013. Inclui referência, apêndices e anexos. 1. Antropologia. 2. Carnaval – Pernambuco. 3. Máscaras. 4. Estética. 5. Memória coletiva. 6. Identidade social. I. (Orientador). II. Título.
390 CDD (22.ed.)
UFPE (BCFCH2013-59)
Maria das Graças Vanderlei da Costa
Lugares, Tradições e Rostos: Máscaras no Carnaval de Pernambuco Objetos que Falam sem Calar Sujeitos
Volume II
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Antropologia
Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Lopes Nogueira Co-orientadora: Profa. Dra. Fátima Teresa Braga Branquinho
Recife Dezembro de 2013
i
SUMÁRIO COMEÇANDO TECER...
14
Como um Trabalho Artesanal
16
Desenhando a Trama
17
A Escolha dos Fios
21
Construindo a Teia
23
Configurando a Manta
33
PARTE 01: Lua Nova
39
1. LUGARES E TRADIÇÕES
41
1.1 As Cidades: Construídas e Reveladas
43
1.1.1 Bezerros: Proximidade da Capital
49
1.1.2 Seguindo para o Sertão: Afogados da Ingazeira
55
1.2 Festas: a Tradição que Reencanta
64
1.2.1 Carnaval: a Festa das Emoções
69
1.2.2 Bezerros: o Carnaval que se Amplia
75
1.2.3 Afogados da Ingazeira: Carnaval em Movimento
79
1.3 Ser e Estar: Identidades Plurais
87
1.3.1 O Lugar do Sujeito: Diversidade de Papéis
90
1.3.2 Os Sujeitos e os Lugares: Sentidos de Pertencimento
93
1.3.3 Identidades Construídas: Cidades dos Mascarados
95
1.3.4 Bezerros: Terra dos Papangus; Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros
99
2.ROSTOS E MÁSCARAS
106
2.1 Memória: Lembranças e Esquecimentos
108
2.1.1 Os Mitos de Origem: Verdades Revividas
111
2.1.2 A Origem dos Folguedos: as Histórias Encantam a História
115
2.1.3 Dos Papa-Angus aos Tabaqueiros: Papangus de Todos os Tempos
120
2.2 Máscaras: Magia e Mistério
126
2.2.1 Objeto: Quase-sujeito
130
2.2.2 Vida nos Ateliês: Construindo Saberes e Fazeres
136
2.2.3 A Arte das Máscaras: Conhecimento, Técnica e Trabalho
148
ii
PARTE 02: Lua Crescente
160
3. CARTOGRAFIA DOS MASCARADOS
162
3.1 Seguindo as Linhas: Construindo Teias
164
3.1.1 Apresentando os Mascarados: Brincadeiras de Ontem e Hoje
168
3.1.2 A Revelação dos Mapas: a Dinâmica dos Objetos
182
4. O SEGREDO: JOGO DO MASCARAMENTO
209
4.1 O Campo do Segredo
211
4.1.1 A Máscara: Vivendo o Anonimato
212
4.1.2 Os Segredos de Cada Carnaval
214
4.2 Máscara: Possibilidade de Ser “um Outro” 4.2.1 O que Revela e o que Esconde: Quebrando Grilhões
227 229
PARTE 03: Lua Cheia
238
5.O MEDO: FEIO OU PERTURBADOR?
240
5.1 O Universo do Medo
242
5.1.1. Ordem e Desordem: Duas Faces da Moeda
245
5.1.2 Carnaval: Liberdade Tolerada na Brincadeira Coletiva
249
5.2 Da Commedia dell'arte aos Folguedos dos Mascarados 5.2.1 A Beleza do Feio: Dos Primórdios das Brincadeiras à Dinâmica Atual
255 261
6. A VAIDADE: FAZER-SE VER
270
6.1 Os Labirintos da Vaidade
272
6.1.1 Sedução: A Linguagem das Brincadeiras
274
6.1.2 Espelho, Espelho Meu: A Beleza do Belo
285
6.2 Espetacularização: Sob os Flashs e Holofotes
291
6.2.1 Concurso: o Desfile da Vaidade
296
6.2.2 Papangus: de Bezerros para o Mundo
301
6.2.3 Brincadeira de Homem: Toque de Mulher
303
PARTE 04: Lua Minguante
309
7.O PRAZER: PODER DA IDENTIFICAÇÃO
311
7.1 Os Caminhos do Prazer
312
iii
7.1.1 Identificação e Sentido: Satisfação Coletiva
316
7.1.2 Ciclo da Dádiva: Alimentando a Alma
323
7.1.3 Último Carnaval: o Prazer de mais uma Folia
329
8. MOVIMENTO DA TRADIÇÃO
338
8.1 Objetos que Falam sem Calar Sujeitos
340
8.1.1 Burburinho da Tradição
348
8.1.2 Filamentos que Tecem: Rede Sociotécnica
354
8.2 Categorização das Máscaras: Imaginário a Olhos Vistos 8.2.1 Do Local ao Universal: Campo no Além-mar
369 390
CONTINUANDO A TECER...
402
Seguindo o Fio
404
Percorrendo o Labirinto
409
Visualizando a Saída
414
BIBLIOGRAFIA
422
Referências Bibliográficas
423
Bibliografia Consultada
435
APÊNDICES
439
APÊNDICE A - Mapa das Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco
440
APÊNDICE B - Informantes
453
APÊNDICE C - Itinerário para Bezerros e Afogados da Ingazeira
458
APÊNDICE D - Limites dos Municípios de Bezerros e Afogados da Ingazeira
459
APÊNDICE E - Ficha 01: Pesquisa Máscaras e Mascarados de PE -NASEB
460
APÊNDICE F – Ficha 02: Pesquisa Máscaras e Mascarados de PE-NASEB
461
APÊNDICE G - Prazeres do Campo
462
APÊNDICE H - Artesãos-Artistas/ Ateliês – Bezerros
463
ANEXOS.
466
ANEXO A - Propaganda Institucional
467
ANEXO B - Folders Loja de Máscaras - Veneza
468
PARTE 03: LUA CHEIA
239
O nome Selene deriva de sélas, que significa brilho, clarão. Com um mesmo sentido, na mitologia romana a deusa era chamada de Luna, derivado de Lux. Selene, como a Lua, tornou-se inspiradora de poetas, romancistas, cantadores e amantes. Deusa dos lunáticos, dos trabalhadores noturnos e dos bruxos (KURY). Quando o astro-rei adormece, a Lua Cheia parece sair das águas encantando a todos. No seu percurso noturno surge no céu às 18h e se esconde às seis da manhã do dia seguinte. Sua magnitude influencia as marés, as parturientes, os loucos e os amantes. A Lua Cheia apresenta-se plena: luz, força, brilho. Exibe-se vaidosa. Provoca admiração e inquietação. Na festa os brincantes se mostram e se amostram, como a Lua Cheia. Com tamanha intensidade os folguedos envolvem mascarados, moradores e turistas. O medo assusta e satisfaz. A vaidade marca presença. Ordens estabelecidas. Desordens desenhadas. Natureza e cultura caminham juntas, ensinando sobre a conexão entre os elementos. Devemos crer que os próprios atores envolvidos na dinâmica do Carnaval e no movimento as brincadeiras, produzem suas teorias, seus contextos, sua ontologia, sua metafísica (LATOUR, 2012).
PARTE 03: Lua Cheia
240
5. O MEDO: FEIO OU PERTURBADOR?
Descreve-se a fuga do medo, por exemplo, como se a fuga não fosse antes de tudo uma fuga diante de um certo objeto, como se o objeto evitado não permanecesse constantemente presente na fuga mesma, como seu tema, sua razão de ser, aquilo diante do qual se foge. (SARTRE, 2010, p. 57). Formam-se grupos, agências são exploradas, objetos desempenham um papel. Tais são as três primeiras fontes de incerteza com que contamos, se quisermos acompanhar o fluido social através de suas formas sempre mutáveis e provisórias. (LATOUR, 2012, p. 129).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
241
Do relacionamento entre Afrodite, deusa do amor e Ares, deus da guerra, nasceram os gêmios Deimos e Fobos. O primeiro era a personificação do medo, e residia na porta do inferno. O segundo era conhecido como deus da fobia, do espanto, espalhando o pânico e o terror. Diz a lenda que Fobos e Deimos acompanhavam o pai nas guerras, injetando no coração dos seus inimigos o temor e o pavor, o que provocava a fuga destes, do campo de batalha. Andavam em uma carruagem conduzida por caveiras, ao lado de um exército de horrendos demônios. O medo e o terror, espalhados desde aqueles tempos pelos inseparáveis irmãos são sentimentos presentes até os nossos dias, vividos com intensidade pela humanidade (KURY, 2008).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
242
5.1 O Universo do Medo A cultura grega não considerava que o mundo era necessariamente todo belo. Sua mitologia narrava feiúras e erros e, para Platão, a realidade sensível era apenas uma inapta imitação da perfeição do mundo das ideias. (ECO, 2007, p.43).
A lembrança do medo das centenárias brincadeiras dos mascarados deixou marcas na memória de muitos moradores. Os primeiros raios da manhã surgiam criando sombras que se movimentavam com a presença do vento: árvores e arbustos transformavam-se em figuras escuras, projetadas na terra batida. Os animais em alvoroço indicavam a interrupção do descanso noturno, mas a cidade ainda dormia. O silêncio da madrugada era rompido pelo estalido dos chicotes que cortavam o ar, pelo tilintar grave de chocalhos metálicos e pelo som das patas dos cavalos e bestas, que seguiam em disparada, pelas ruas e ladeiras vazias. Um misto de temor e ansiedade acelerava os corações dos moradores que acabavam de acordar dando um curso diferente às águas da mesmice de um cotidiano que se repetia incansavelmente. Os conhecidos sons que rompiam o sossego da cidade adormecida anunciavam a invasão dos brincantes mascarados que chegavam trazendo o medo e a irreverência, na manhã do Carnaval que começava. As roupas escuras, molambos sobrepostos, as botas e sapatos marcadas pela lida no campo, os chapéus de palha ou couro, os longos chicotes em movimento, as meias sujas sobre as mãos, e, principalmente, as máscaras grotescas a encobrir-lhes toda a face, criavam
esses
personagens
medonhos
e
provocadores,
que
aproveitavam o cenário sombrio na madrugada interiorana para iniciarem uma diversão compartilhada: o medo envolvia e dominava, despertando o dia e as pessoas. Essa cena pôde ser vista durante as primeiras décadas do século passado, em diversas cidades do interior de Pernambuco. Papangus e Tabaqueiros eram os feios mascarados e usufruíam, no sítio e na cidade, da liberdade propiciada pelo anonimato.
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
243
Aos oito anos eu já me fantasiava, já fazia minha própria máscara, mesmo mal feita, que era com papel de embrulhar charque. Que a biografia é essa. As primeiras máscaras foi feita com papel de embrulhar charque. Que papel de embrulhar charque antigamente, no meu tempo, ele era grosso feito um papelão. E aquele papelão a gente aproveitava e fazia as máscaras e brincava no Carnaval. E como era pouco também... o Carnaval o povo até que tinha medo de gente mascarado... porque sempre teve esse medo de gente mascarado. (mestre Lula Vassoureiro).
O medo é como um alimento que nutre a árvore das emoções; um remédio que, dado em doses corretas, traz a vivacidade necessária à existência; um bálsamo, que ajuda a romper com a monotonia, brotando sentimentos. O medo é como um botão vermelho, que ao ser acionado enche nosso corpo de substâncias mágicas, que despertam um prazer inexplicável. O medo é como um deus que precisa de atributos para se constituir e tornar-se vivo: um cenário inquietante, uma sonoridade macabra, indumentárias lúgubres, armas perigosas, cores escuras e sombrias. Ele está sobre uma tênue linha, que delimita os territórios que fazem parte de nossa existência, no nosso cotidiano, nos nossos sonhos, em nossos pensamentos. A cada instante ultrapassamos esse limite, percorrendo todo um universo simbólico que o constitui. O medo é emoção. Não se pode compreender a emoção se não lhe buscamos uma significação. Essa significação é, por natureza, de ordem funcional. Somos levados, pois, a falar de uma finalidade da emoção. Essa finalidade nós a captamos de uma maneira muito concreta pelo exame da conduta emocional. (SARTRE, 2010, p.48).
Temos medo daquilo que não conhecemos, não dominamos, não conseguimos prever. Tememos os labirintos tortuosos, as cavernas sombrias, os quartos escuros, porque não sabemos que monstros habitam nesses lugares medonhos. Receamos tanto o que se esconde atrás das portas, embaixo das camas, dentro de obscuras caixas, quanto as lembranças do passado, a contundência do presente e as possibilidades do porvir. Sentimos medo das novas faces, as máscaras, e também dos rostos que possam existir por trás delas, pois ambos têm vida própria e nos ajudam a tecer uma manta de sentimentos, que permeiam a realidade e a imaginação. Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
244
Diante do desconhecido, o impulso natural do homem em idealizar e o seu temor natural, cooperam para com o mesmo objetivo: intensificar o desconhecido através da imaginação e dar-lhe uma ênfase que nem sempre corresponde à realidade patente. (SIMMEL, 1999, p.223).
O imaginário dá uma fisionomia não apenas a nossos desejos, às nossas aspirações e necessidades, mas também às nossas angústias e temores (MORIN, 2005b). O medo provoca arrepios, mudez, paralisação, choro, desconforto, mas também prazer, excitação e superação. Existe uma tensão entre o medo e o desejo do enfrentamento. Num primeiro momento uma vontade de sair, não ver, se afastar, se desvencilhar. Em seguida, o ímpeto de romper com os temores, fazer descobertas, ver, ficar e enfrentar. As brincadeiras dos mascarados da Cultura da Tradição de Pernambuco têm o medo como uma nascente: olho d’água presente desde o nascimento dos folguedos, quando ainda eram pequeninos riachos, promessa de se transformarem em caudalosos rios. O medo é um tema recorrente, presente na história oral construída em cada contação dos brincantes e moradores. As máscaras feias e medonhas marcaram as lembranças: faces assustadoras, olhos brilhantes sob elas. “Lembro sim. Tinha de papel, que era papel colê e tinha de tecido. Feito uma fronha. Aí cortava os dois olhos a boca e pintava assim, prá [1] Artesã-artista em Bezerros, 40 anos.
decorar ela” (Cícera dos Santos1). Muitos falam com intensidade do temor dos mascarados que circulavam nas ruas e entravam nas residências. “Eu tinha tanto medo
[2] Maria Lúcia de Araújo Nogueira é afogadense, relações públicas, advogada e escritora; 58 anos.
que me urinava toda” (Maria Lúcia2). Tantos viveram e reviveram essas lembranças, transformando-as a cada recordação. E assim a história foi tecida pelos fios que ligaram gerações, construíram laços de parentesco e amizade, bordaram com linhas brilhantes os textos das narrativas faladas e escritas. E a memória compartilhada comprova que: [...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. (BENJAMIN, 1994, p. 37).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
245
Nos depoimentos dos moradores era marcante a ligação entre o medo e a estética do Feio, do sombrio, do maltrapilho. Como revelaram as falas, os mascarados eram “horríveis”. [...] O horrível não é possível no mundo determinista dos utensílios. O horrível só pode aparecer num mundo tal que seus existentes sejam mágicos na natureza deles, e que os recursos possíveis contra os existentes sejam mágicos. (SARTRE, 2010, p.88).
Entretanto esse sentimento era acionado também em relação ao desconhecido, ou ao conhecido com uma carga pejorativa atrelada à máscara: mesmo sendo Belos mascarados, os palhaços podem suscitar medo. Há, portanto uma estreita ligação entre o medo e nossa bagagem individual e coletiva: aquilo que nos perturba e ameaça, o que a máscara significa para nós. Percebi que, para compreender melhor o universo que envolvia o medo presente nas bincadeiras dos mascarados carnavalescos, tornar-se-ia necessário adentrar nos labirintos que desenham os caminhos entre a ordem e a desordem, revelados nos amplos campos da Arte e seus personagens. 5.1.1. Ordem e Desordem: Duas Faces da Moeda Em uma sociedade tradicional, que se define em termos de equilíbrio, conformidade, de estabilidade relativa, que se vê como um mundo civilizado, a desordem se torna uma dinâmica negativa que cria um mundo ao contrário. (BALANDIER, 1997, p. 121).
A ordem e a desordem são elementos indissociáveis e geralmente compreendidos, no universo empírico, como dicotômicos. A desordem está envolta em uma carga de negatividade, para sociedades pautadas na ordem civilizatória. Apresenta-se, contudo, como elemento imprescindível para reforçar a própria ordem ou dar-lhe um novo aspecto. É reconhecidamente necessária, pois sem ela há a morte do movimento, aspecto de suma importância para a vida social. É interessante lidar com a desordem, dominando-a, neutralizando-a e transformando-a em “[...] instrumento de um trabalho com efeitos positivos” (BALANDIER, 1997, p. 121). Uma das formas para tornar possível essa transformação é propiciar a construção de um jogo com Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
246
cenários repletos de simbolismo, cujos personagens se apropriam da esperteza e da liberdade usando o riso e o deboche como elementos catárticos e transgressores. É relevante reconhecer o valor da transgressão da ordem a partir das obras da literatura popular; da relevância temática do excesso e do desregramento encontrados nas tradições orais de diversas comunidades e da riqueza das festas, que representam uma espécie
de
parênteses
colocados
no
interior
do
cotidiano,
possibilitando, dentro da efervescência coletiva, o desmoronamento de uma disciplina existente. “De um continente a outro, de uma região cultural a outra, a narrativa popular veicula os mesmos ensinamentos: realiza uma transgressão impossível, porque geradora de crises amedrontadoras, através da fala de personagens imaginários [...]”, (BALANDIER, 1997, p. 123). A cultura cômica popular traz o jogo entre ordem e desordem marcante nas formas dos ritos e espetáculos, nas obras cômicas verbais de naturezas diversas e nas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro, categorias inter-relacionadas que interagem de diferentes maneiras. Mikhail Bakhtin (2002) nos revela importantes categorias sociológicas existentes nas representações da Cultura Popular da Idade Média e do Renascimento, preciosas para pensarmos as Culturas da Tradição no contexto atual. Em prosa ou em verso a escrita popular continua trabalhando essa temática. Pela arte do cordel o mestre bezerrense J. Borges revela tanto a ordem do contexto familiar, quanto à desordem da pândega carnavalesca, a partir de uma linguagem irreverente: O Carnaval do Papangu J. Borges O Carnaval do Papangu Dança solteiros e casais As famílias educadas As moças junto aos pais O Carnaval do Papangu O melhor dos Carnavais O Carnaval do Papangu Tudo de bom acontece Quem tá duro fica mole Quem tá mole endurece Quem tá fora muitos anos No Carnaval aparece. Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
247
No jogo entre ordem e desordem destaco a importância de personagens que viabilizam esse movimento. As proibições que existem na vida real, a ordem moral e social, são transgredidas através da linguagem, que permite infringir padrões oportunizados pelo riso, zombaria, excesso, desregramento, esperteza, agressão, contestação e sexualidade. Muitos desses elementos caminham nos labirintos da alegria e do medo, sentimentos relevantes para a realização humana. Permeando os universos culturais, o imaginário coletivo dá forma e vida a seres necessários ao desenrolar deste importante movimento. São deuses mitológicos, heróis astuciosos, bufões cômicos e insanos. Encontrados na mitologia, na religião e nas narrativas da Cultura da Tradição, essas figuras apresentam características próprias pertinentes ao universo simbólico no qual estão inseridos. Possuem particularidades comuns, que os coloca num conjunto de figuras fora da conformidade social: são ‘outros’, marginais, à parte, separados do centro mantenedor de uma ordem constituída. “Eles perturbam, transgridem, subvertem, desafiam os poderes, e as potências superiores com as quais seu estado intermediário (entre os deuses e os homens) os relaciona. A uma lógica da ordem opõem uma lógica da contradição e incerteza.” (BALANDIER, 1997, 142). Entretanto, marcam presença por romperem com a rigidez de uma ordem estabelecida, ampliando o universo de criação e tecendo uma nova ordem necessária. Assim, o que poderia se apresentar apenas como
elemento
negativo
revela-se
positivamente
por
esta
funcionalidade. Na mitologia egípcia Seth3 caracteriza-se como um deus [3] Na mitologia egípcia Osíris era o maior dos deuses. Ísis, sua esposa, deu a luz a Hórus. Seth era irmão de Osíris, tio de Hórus.
transgressor, marcado pela incompletude e não integrado à ordem geral do cosmo, entretanto, dentro de sua incompletude, revela uma desordem criadora, uma nova forma de ordem obtida pela luta contra a rigidez de sistemas estabelecidos, pela fuga do ordenamento, pelo movimento construído por ações transgressoras. Dionísio, deus grego do disfarce, da mobilidade, das festas, do vinho, faz o elo entre o mundo divino e humano, envolvendo-se nos preceitos bestiais e selvagens da carne. Pela interpretação psicanalítica, Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
248
Dionísio diminui as fronteiras entre o ser e o outro, vencendo a alteridade e quebrando as barreiras da diferença. Com seus exageros e transgressões, liga a lógica masculina e feminina, a ordem racional e a desordem que a fortalece. O deus excessivo, volúvel e senhor de todas as perversões, gerador de todas as inquietações, embaralha as formas pelas quais a ordem social é definida, subverte os valores fundamentais, nutre a exigência de ultrapassagem dos limites individuais e de salvação, do mesmo modo que o protesto de onde nascem as forças de ruptura e de subversão da Cidade. (BALANDIER, 1997, p.138).
Legba, ou Eshù4, da mitologia africana, é uma figura capaz de constantes transformações Por estar em todos os locais e de se [4] Conhecido no Brasil como Exu, no Candomblé é um dos mais importantes Orixás. Na Umbanda os Exus são entidades - espíritos que incorporam nos médiuns em busca de evolução. É popularmente associado a figura do Satanás, pela sua dinâmica transgressora. Entretanto essa associação não é aceita pela construção teológica yorubá, uma vez que Exu não é um opositor a Deus, nem uma personificação do mal (MITOGRAFIAS, 2010).
comunicar amplamente, representa o movimento, brincando com os limites e restrições da ordem social. Muitos desses personagens que viabilizaram a desordem suscitaram também o medo. Nas mais diversas representações da Cultura da Tradição, encontramos as figuras do Palhaço e do Bufão cerimonial, criando a dinâmica entre ordem e desordem presente em inúmeros rituais e manifestações festivas. Na Idade Média e Renascimento, o mundo infinito de manifestações do riso apresenta os bufões e tolos, gigantes, anões e monstros: Palhaços de categorias diversas, como forma de oposição à cultura oficial vigente e ao tom sério, religioso e feudal daquela época. Os bobos e bufões situavam-se na fronteira entre a vida e a arte, numa esfera intermediária, onde continuavam sendo bestiais em todas as circunstâncias (BAKHTIN, 2002). Continuando presente nas festividades e folguedos atuais o Palhaço, tudo pode, envolto numa total permissividade. Ele banaliza o sagrado; inverte a ordem cerimonial; liga-se à selvageria e a bestialidade; utiliza-se da sexualidade e obscenidade; apropria-se de aleijões e defeitos de nascimento usando-os como instrumentos do espetáculo burlesco. A gestão da desordem trazida por todos esses personagens é necessária e deve ser percebida não apenas no âmbito das representações coletivas ou das simulações do imaginário. Ela se processa no nível da realidade, apropriando-se dos sistemas cognitivos, Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
249
simbólicos e rituais que possibilitam a domesticação ou conversão da desordem, buscando suas finalidades positivas. (BALANDIER, 1997). Há uma espécie de necessidade catártica construída a partir da ordem e desordem desses mundos em movimento: no universo da Cultura da Tradição, na organização das festas, no desenvolvimento dos folguedos. Busca-se assim, uma forma de terapia coletiva, onde tudo se inverte, para ser possível, após os momentos de pândega, regressar à ordem anteriormente existente ou dentro de uma importante renovação: o Carnaval é uma prova deste movimento. 5.1.2 Carnaval: Liberdade Tolerada na Brincadeira Coletiva O tempo carnavalesco é aquele durante o qual uma coletividade inteira se apresenta em uma espécie de exibição lúdica, liberando-se através da imitação e dos jogos, abrindo-se a críticas e ataques através de exageros toleráveis, entregando-se por arremedo às turbulências a fim de alimentar sua ordem. (BALANDIER, 1997, p.129).
Dentre as festividades que fazem parte do calendário oficial o Carnaval é percebido como um tempo que envolve toda a comunidade em uma nova ordem. Relacionado com o calendário das estações e da liturgia instituída pela Igreja, esta festa popular, além de ter uma importância histórica, tem uma função social. Nesta manifestação, onde o principal operador é a inversão é marcante a presença da “união dos contrários”, quando o sagrado e o bufão se apresentam
delineando
uma
desordem
coletiva.
Quebram-se
hierarquias, rompem-se censuras, contestam-se ordens institucionais e, na multidão de anônimos, passa a existir a transgressão das normas estabelecidas no cotidiano, fora do tempo festivo. As ruas, pátios, praças, residências, associações, possibilitam a proximidade, a convivência, a troca pautada em relações emocionais e contatos afetivos (Fig 01). Liberando as pulsões controladoras da realidade social cotidiana, a importância da festa carnavalesca recai também sobre uma ordem psicológica, onde a liberação do corpo, do sexo e até mesmo da violência
asseguram
um
jogo
libertário.
Tanto
nas
antigas
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
250
manifestações carnavalescas, quanto na realidade atual, há o exemplo desta liberdade festiva: nos movimentos corpóreos repletos de sensualidade, na improvisação e criatividade das fantasias, nas músicas e personagens hilários e irreverentes: o imaginário envolve a manifestação propiciando a liberação e ruptura de hierarquias através das máscaras. Os feios Papangus de outrora eram grotescos, malamanhados, como dizem os moradores. Traziam a irreverência e a alegria, paralelamente, o medo e uma tensão regada pelo prazer. No Carnaval atual de Bezerros o palco tem a dimensão da cidade. Muitas máscaras continuam rompendo com os padrões do belo, assinalando a necessidade de se destacar pela Beleza do Feio. Outras tantas aliam a Beleza e criatividade, provocando o medo por causarem perturbações, em função dos mistérios do anonimato. O certo é que a irreverência festiva circula pelas ladeiras tomadas pela multidão, que se diverte com os gestos obscenos de alguns brincantes (Dig. 01). Repetidamente ouvi uma frase “Papangu não tem sexo!”. Pude constatar que a inversão era muitas vezes uma estratégia usada para que o anonimato reinasse na folia dos mascarados, propiciando o jogo do segredo. Homem se mascarava, virando mulher. Mulher exibia-se, transformando-se temporariamente em másculos foliões. Muitos brincantes aproveitavam para viver a temática da homossexualidade, incorporando o papel das bichas carnavalescas, das virgens, das mocreias, nomes e batismo criados no contexto da festa. Outros tantos vivenciavam no Carnaval a homossexualidade que fazia parte de sua escolha pessoal. Provocadores, marcavam pela acentuada forma de atiçar os assistentes curiosos. Os turistas abraçavam os brincantes mais irreverentes, registrando sua participação na pândega, como forma de aprovação e compartilhamento. Também a temática da traição revelou muitas vezes a animada desordem da folia dos Papangus. Os cornos eram reverenciados, exibindo seus chifres, como um troféu ganho durante a festa. (Fig.02).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
251
O Carnaval do Papangu (J. Borges) Carnaval do Papangu São dez dias de folia Com cachaça frevo e mulher Todo homem se arrepia E os que não leva chifre Reza ajoelhado três dias.
Percorrendo as ruas de Bezerros presenciei muitos desses exemplos em que a ordem é subvertida dando lugar à desordem envolvente, atrativo para o deboche, o riso, a hilaridade. Na calçada de uma das casas a brincante, vestida de negro, era acompanhada pelo seu parceiro: o Urso da viúva. Ela, elegantemente vestida, com sua meia máscara dourada, era fotografada por muitos turistas, que alegremente se divertiam com o trocadilho. Outro Papangu andava de ponta à cabeça, quebrando a ordem lógica do caminhar e chamando a atenção para tamanha criatividade. Um boneco-papangu carregava sua marionete, o brincante (Fig.03; Dig. 02). Os graciosos e grotescos Palhaços- papangus estavam espalhados por toda parte. Com máscaras ou cara pintada seguiam em destaque na multidão. Assim, lado a lado, o Feio e o Belo desfilavam num cortejo repleto de beleza, criatividade e magia. O medo, agora com menor força, dava lugar à satisfação da desordem festiva, cuja ordem era brincar (Fig 04; Dig. 03 e 04).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
252
[Fig 01] No Carnaval a desordem festiva. (Acervo Graça Costa).
[Fig 02] Homossexualidade e traição: a irreverência compartilhada. (Acervo: Lucas Brayner)
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
253
[Fig 03] Quem carrega quem? Uma nova ordem estabelecida. (Acervo Graça Costa).
[Fig. 04] Os Papanguspalhaços: criativos e provocadores. (Acervo Graça Costa).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
254
Protetor dos viajantes, deus do comércio, divindade da comunicação e expressão, Hermes era o patrono da poesia cômica e representante da magia. Ardiloso, cheio de espertezas, era considerado o protetor dos ladrões. Esse atributo lhe causou sérios problemas, pois tendo furtado muitos deuses, foi expulso do Olimpo. Seu pai, Zeus, permitiu que voltasse, dando-lhe a incumbência de mensageiro. Guiava também as almas dos mortos para o reino de Hades. Sendo ao mesmo tempo culto e engraçado, fazia grande sucesso com as mulheres, tendo gerado muitos filhos. Tinha como emblema o caduceu, bastão que possuía asas na parte superior e duas serpentes opostas enroladas na haste, que representavam forças opostas. Esse deus astuto exibia poderes e realizava proezas. Como os artistas, oradores e comerciantes tinha o dom do discurso, da linguagem, da sagacidade (GRIMAL, 2009). Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
255
5.2 Da Commedia dell'arte aos Folguedos dos Mascarados Seguindo a linha traçada pela espiral do tempo, visualizo muitos personagens que transformaram realidades, participaram de feitos,
marcaram
pela
relevância
de
atitudes
e
conquistas,
ultrapassaram barreiras geográficas e passaram a dialogar com o mundo. Em suas diversas áreas, nos mais variados contextos, esses sujeitos produziram saberes e fazeres. Percorrendo esse mesmo itinerário reconheço as máscaras também como construtoras de conhecimento e visualizo, en passant e sem necessariamente seguir um rigor cronológico e espacial, a presença marcante desses quase-sujeitos na história: na proteção dos caçadores pré-históricos, nas festas dionisíacas e no teatro grego; nos cerimoniais funerários no antigo Egito; nas comemorações de matrimônio de povos asiáticos; em rituais sagrados dos índios brasileiros; nas danças e procissões luso-espanholas; nas encenações do teatro japonês; na contação de histórias de comunidades africanas; nos ritos de passagem e cura dos nativos americanos; nos festejos dos Saturnais romanos; nas comemorações de Halloween de grupos norteamericanos; nos cultos da fertilidade de povos europeus; nos folguedos da tradição de comunidades brasileiras; nos Carnavais medievais e renascentistas de cidades européias. Com tantos outros povos estiveram em lugares e épocas diversas. A máscara, em cada contexto diferenciado, imprime sua marca, tatua sua presença, gera conceitos:
desenhando
significados,
comunicando
mensagens,
produzindo conhecimento. Reitero que as máscaras narram e constroem uma história. Nesse universo de existência das máscaras, regido por amenidades e tensões esteve presente não apenas uma estética voltada aos padrões clássicos de Beleza, mas aos modelos que se aproximavam de um outro tipo de Beleza: a do Feio, do grotesco, do aterrorizante, do hilariante. E nesse sentido também em diversos momentos esses dois campos da estética aliaram-se, construindo personas híbridas, habitantes de mundos estranhos e mágicos. Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
256
Acho de suma importância destacar nesse percurso um relevante momento para a história da Arte das máscaras e do entendimento da estética ligada principalmente ao campo da Beleza do Feio e do grotesco: a criação da Commedia dell’art. “Esse mundo possui uma integridade de leis estéticas especiais, um critério próprio de perfeição não subordinado à estética clássica da beleza e do sublime” (BAKHTIN, 2002, p. 31). Também conhecida como a Comédia das máscaras, foi criada no século XVI na Itália. Influenciou tanto a Europa como os países que sofreram uma ação de inserção de elementos culturais pelo processo colonizador. Deve ser compreendida como semente para as representações dos mascarados em inúmeras partes do mundo. Commedia dell‟arte, comédia improvisada, comédia das máscaras, nomes diversos designando algo difícil de definir ou descrever, já que não foi um gênero teatral escrito, antes um estilo de representar, obra coletiva de atores, elaborada no século XVI na Itália, nascida de uma reação contra a frieza dos espetáculos da corte ou de academia. (MEYER, 1991, p. 29).
Nela, os atores desfrutavam de uma ampla liberdade de espírito, articulando enredos e personagens e utilizando-se da improvisação e do disfarce para suscitar o riso e despertar o sonho. Com uma estética diferenciada dos padrões da beleza clássica, interessava esconder a verdadeira identidade dos atores, usando de artifícios, sutilezas, linguagem corpórea e, principalmente, de máscaras repletas de detalhes e criatividade, das mais variadas formas, para viver personagens múltiplos. “Personagens fixos e situações codificadas eram, na verdade, a base para o jogo espontâneo da improvisação na medida em que constituía o quadro de referência, flexível, mas necessário à criatividade dos atores” (MAGNANI, 2003, p.61). Juntamente com o figurino, as máscaras da Commedia dell’arte ajudavam a representação de cada personagem que se exibia em palcos improvisados nas ruas e praças públicas. A forma desses objetos, quase-sujeitos, não era, geralmente, com uma dimensão completa para cobrir toda a face e deixavam a parte inferior do rosto à mostra, pois os atores necessitavam serem ouvidos perfeitamente pelo público. Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
257
Dentre eles destacam-se Dotore Della Peste, Pantalone, Arlecchino, Gnata e [1] Vide Capítulo 08.
Bauta, Pierrô, Arlequim e Colombina1. Improvização, musicalidade, diversão, mímica, criatividade, sarcasmo, dança, espetacularização, intriga amorosa, malabarismo, audácia: tudo isso formava um conjunto no qual a linguagem corporal e falada faziam nascer e renascer a comédia dos mascarados. Entre os diversos personagens do teatro italiano revelaram-se os famosos Palhaços. Eles marcaram sempre os variados contextos presentes na história da arte sendo conhecidos por diversas denominações: Clown, Toni, Arlequim, Pierrot, Auguste. Essas denominações, no entanto, conotam matizes diferentes ao personagem cujas origens remontam às tradições grego-romanas, sendo encontrado nas feiras populares medievais, nas cortes reais e na Comédia dell’arte italiana. (MAGNANI, 2003, p.91).
O termo palhaço vem do italiano pagliaccio. Significa vestido de palha, designando também o pano grosso do colchão de palha. Por vestir-se com uma roupa larga como um saco e de pano rústico, o nome, por analogia, passou a designá-lo. (MAGNANI, 2003). Atravessando oceanos, essas figuras foram adentrando em terras colonizadas e marcando espaço com sua alegria e irreverência. Os Palhaços mascarados, herdados da cultura européia, continuaram presentes nas festas, como veículos para a vitalidade das brincadeiras, atuando em cenários diversos: nos requintados salões da elite brasileira ou nas ruas e praças das cidades e lugarejos, eles transmudaram-se infinitamente, ampliando as possibilidades de serem outros através do mascaramento. Caretas, Papangus, Tabaqueiros e tantos outros mascarados do Carnaval, guardam características desses personagens hilários As Máscaras Menotti del Picchia (1920) O teu beijo é tão doce, Arlequim... O teu sonho é tão manso, Pierrô... Pudesse eu repartir-me encontrar minha calma dando a Arlequim meu corpo... e a Pierrô, minha alma! Quando tenho Arlequim, Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
258
quero Pierrô tristonho, pois um dá-me prazer, o outro dá-me o sonho! Nessa duplicidade o amor todo se encerra: Um me fala do céu... outro fala da terra! Eu amo, porque amar é variar e, em verdade, toda razão do amor está na variedade... Penso que morreria o desejo da gente se Arlequim e Pierrô fossem um ser somente. Porque a história do amor só pode se escrever assim: Um sonho de Pierrô E um beijo de Arlequim!
Nos folguedo da Folia de Reis encontrados em muitas regiões do Brasil os Palhaços sempre representaram a porção profana da comemoração repleta de sacralidade. Rompendo com a ordem esses personagens contrastavam com os padrões mais rígidos, através de suas dimensões lúdicas, criativas e transgressoras. O mascarado da Folia de Reis da Candelária, Rio de Janeiro “pode ser definido como um ser liminar, transicional, que vive de sua própria indefinição” (BITTER, 2010, p. 171). Também no Reisado da cidade de Triunfo, no sertão do Pajeú pernambucano, as lembranças dos moradores indicaram a presença de um par de personagens irreverentes que acompanhava o folguedo natalino no início do século XX. O Mateus e seu companheiro de peripécias chegavam
nas residências anunciando o Reisado.
Provocavam o riso por meio dos deboches, da ironia, das palavras obscenas, da gestualidade cheia de libertinagem. Tudo isso agradava os moradores dos sítios que iam vê-los e, compartilhando daquele momento coletivamente, deliciavam-se com os “palavrões” ditos sem restrições com os gestos grosseiros Eles eram verdadeiramente Palhaços, que abriam as portas para o folguedo entrar (COSTA, 2009a). A distribuição de personagens por pares já era percebida nas apresentações da Commedia dell’arte italiana, na qual atores dotados de atributos fixos encenavam em duplas, o que permitia o importante jogo, para a alegria de todos. “O que principalmente o público deseja é Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
259
rir. Tudo é pretexto para desencadear a hilaridade; as sátiras sociais, as paródias, as improvisações, as obscenidades [...]” (MEYER, 1991, p.61). Mario de Andrade (1986) justifica a presença em folias sagradas de figuras que rompem com a ordem estabelecida. Para ele, a finalidade religiosa deu aos bailados populares brasileiros sua origem primeira e sua razão de ser psicológica e tradicional. Assinala, porém, que, com o correr do tempo, os folguedos passaram a contar, com dois elementos que cresceram em importância, afastando-os da religiosidade original: o cômico, desagradando e caçoando das estruturas vigentes e o heróico, elementos ligados à luta pela vida, à coragem e aos trabalhos cotidianos. O Palhaço é uma figura que traz consigo características bem próprias, que caracterizam sua identidade, embora suas máscaras possam ser bem variadas, seguindo entre os domínios do Belo e do Feio. Personagem ambíguo por excelência, adquire forma e valor em situações concretas, como o coringa do baralho; é esse seu descomprometimento, sua aparente ingenuidade, no entanto, que lhe dão o poder que tem, como o bufão do rei: pode zombar de tudo e de todos, impunemente. (MAGNANI, 2003, p.91).
Fora do ciclo natalino esses personagens também registravam uma outra ordem estabelecida na desordem carnavalesca. Exibindo belos figurinos eles suscitaram nos antigos carnavais de Recife um misto de admiração e incômodo. Katarina Real registra a presença desses brincantes já em meados do século XX. Os Palhaços representam uma das tradições mais antigas e mais queridas do fabuloso carnaval recifense. O traje do palhaço é tradicional e belíssimo – máscara prateada de papier-machê que cobre toda a cabeça (como a do urso) com feições estranhas; „colete‟ de veludo e arminho ricamente bordado com vidrilho e lantejoulas; e amplas pantalonas de cetim de cor brilhante e enfeitadas de „pompons‟. Vestem, nas mãos, luvas e castanholas grosseiras. Correm em bandos de cinco, dez, vinte, até trinta, pelas ruas, rindo em alto falsetto, até inventando emboscadas de grande imaginação - uma experiência ao mesmo tempo aterrorizadora, ridícula, carnavalesca, com um certo toque de primitivo. (REAL, 1990, p. 131).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
260
Os mascarados faziam rir e causavam medo e isso ainda acontece nos dias atuais, pois “[...] é aquele que converte a desordem por meio da teatralização ritual” (BALANDIER, 1997, p. 147). Nesse sentido podem ser ao mesmo tempo graciosos e assustadores, belos ou despojados. Concomitantemente, ordenam os rituais e são propagadores da desordem e irreverência. São promotores da alegria e do medo. O depoimento do Palhaço Pipoquinha, personagem criado pela [2] Fátima Marinho, 59 anos, é arte-educadora, cantora e atriz.
atriz e cantora pernambucana Fátima Marinho2 assinala função ordenadora do Palhaço e o medo sentido pelas crianças em relação a essa figura, cujo mascaramento é a pintura no rosto. O Palhaço Pipoquinha nasceu no CECOSNE, quando cursava Comunicação Social e fazia teatro de bonecos com apoio de Madre Escobar, em 1975. Surgiu da necessidade de ter um personagem animando e controlando a euforia do público infantil para que não derrubasse a casa dos bonecos. Numa dessas apresentações uma mãe perguntou se eu poderia ir animar a festa de aniversário da filha dela sozinha. Eu topei. Preparei todo um roteiro de animação com cantigas de roda e brincadeiras. (Fátima Marinho).
Há mais de 35 anos Fátima dá vida ao Palhaço Pipoquinha. Através do lúdico tem por objetivo educar, provocar reflexões sobre a relação entre os humanos e entre eles e a natureza, respeitando e valorizando os mestres populares e eruditos que são os doutores da alegria. Como estratégia para romper com os temores da criançada, Fátima integrou o surgimento do personagem ao próprio momento de apresentação (Fig 01). Surgiu a ideia de fazer a maquiagem com a participação da garotada. Uma pintava o nariz, outra a boca, outra o olho. Vestia a roupa, sapato, luva, peruca do palhaço com a participação das crianças. Era uma dança de metamorfose coletiva. As crianças curtiam muito, mesmo assim. Só tinha medo do palhaço quem chegava no meio da festa. [...] A minha transformação como atriz, cantora e dançarina no Pipoquinha é um ritual coletivo que faz parte do show, da mágica de integração e de socialização. (Fátima Marinho).
O medo despertado pelo Palhaço e por outros mascarados é algumas vezes fruto de situações vividas coletivamente. Segundo a artista, “o medo que a criança tem do palhaço muitas vezes é Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
261
estimulado pelo adulto quando ele diz por exemplo: ‘Se fizer isso vou [3]Palhaços-pagangus na Folia de Bezerros
chamar o Palhaço, viu?’ ‘Ele vai te pegar!’ Já presenciei algumas babás e até mamães dizendo isso”. Existe também o medo suscitado pelo mascaramento, pintura do rosto, adereços, mesmo que a estética do Palhaço seja no âmbito do universo do Belo. O medo não está atrelado, necessariamente, a Beleza o Feio. Como destaca o filósofo e educador Celso Favaretto, o Belo é construído historicamente e culturalmente. Seguindo esse pensamento um belo Palhaço pode parecer feio e tenebroso aos olhos de um assistente que tenha medo da estética que envolve o personagem, por lembrar questões de sua bagagem histórico-cultural. A dinâmica entre alegria e tristeza, segurança e medo, ordem e desordem, controle e liberdade é vivida e sentida em muitos folguedos, rituais, encenações. Acredito que nas máscaras e fantasias dos antigos Palhaços recifenses, em alguns personagens da Commedia dell’ arte, e em tantos mascarados presentes nos Carnavais de Bezerros3 e Afogados da Ingazeira, a Beleza do Feio e a Beleza do Belo chegaram muitas vezes a tecer um diálogo próximo e contundente. Esses são personagens ambivalentes, cercados por múltiplos sentidos. Para melhor entendê-los é de suma importância detectar algumas sutilezas que envolvem o cosmo da Beleza, adentrando no universo do Feio e de suas peculiaridades, tão importantes como catalizadores do medo (Dig. 01 e 02). 5.2.1 A Beleza do Feio: Dos Primórdios das Brincadeiras à Dinâmica Atual. Segundo a visão aristotélica no campo da estética existem caminhos que levam a duas categorias distintas de Beleza: o que segue padrões ligados ao universo da Harmonia e o que se revela a partir dos aspectos ligados à Desarmonia. No primeiro caso temos quatro elementos pertencentes ao harmônico: o Gracioso, o Belo, o Sublime e o Trágico. No segundo grupo encontramos o Risível, a Beleza do Feio, a Beleza do Horrível e o Cômico (SUASSUNA, 2005). Nos estudos voltados ao campo da estética e da cultura, nos diversos Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
262
[4] Tive o prazer de ser aluna do mestre Ariano, no Curso de Arquiteturadisciplina de Iniciação à Estética.
depoimentos proferidos em suas aulas na UFPE4, nos trabalhos pertinentes ao Movimento Armorial, em sua produção literária e poética, Ariano Suassuna fala continuamente da importância de não termos uma visão hierarquizante desses universos. A Beleza do Feio e a Beleza do Belo têm verdadeiramente o mesmo mérito como expressões da natureza e da cultura. Esses são ensinamentos muito caros para a compreensão da dinâmica das brincadeiras dos mascarados. Educados a partir de engessados padrões estabelecidos socialmente, somos impelidos a seguir regras, a fazer comparações, a emitir opiniões, a expressar valores, a tecer críticas, frente às obras construídas pela Natureza e pela Arte. Nessas concepções geralmente seguimos um itinerário pautado em argumentos e interesses que nos remetem aos aspectos relacionados ao universo do Belo, enquanto representação ligada à harmonia, à serenidade. Entretanto, ao aguçarmos os nossos sentidos e ampliarmos nossa percepção podemos identificar no mundo circundante um imenso campo estético, que se afasta desses padrões mais convencionais de Beleza. Ariano Suassuna revela o valor desse conhecimento, observando uma antiga discussão presente no campo da Filosofia e da Ciência. Abrangendo categorias mais amplas, a Estética legitima tanto o Belo quanto Feio e, nessa perspectiva, reconhece o valor do Harmonioso e do Grotesco, do Sublime e do Trágico. A Estética, a partir dessa concepção, pode ser definida como a Filosofia da Beleza, englobando categorias mais amplas que as definidas dentro das clássicas concepções do Belo. Humberto Eco (2010) ressalta a relevância de vermos como diferentes modelos de Beleza coexistiram em uma mesma época e como alguns se remetem mutuamente, mesmo estando em tempos distintos. Percebo a importância dessa questão no que tange aos itinerários traçados pelas Arte das máscaras nas diversas culturas e nas inferências em relação à utilização do mascaramento no âmbito local e universal.
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
263
Cada cultura, ao lado de uma concepção própria do Belo, sempre colocou a própria ideia do Feio, embora em geral seja difícil estabelecer pelos vestígios arqueológicos se aquilo que está representado era realmente considerado feio: aos olhos do ocidental contemporâneo certos fetiches, certas máscaras de outras civilizações parecem representar seres horríveis e disformes, enquanto para os nativos podem ou podiam ser representações de valores positivos (ECO, 2010, p.131).
Geralmente o julgamento de que algo é Belo ou Feio depende dos padrões e valores de cada povo, e cada cultura. Enquanto existiram muitas definições do Belo ao longo dos séculos, o que ajudou a reconstituição de história da estética houve sempre uma carência dessas elaborações em relação ao Feio. Este, sempre foi primordialmente definido em oposição ao Belo (ECO, 2010). O homem fica surpreso ao encarar, o insólito, o exótico, o diferente, o tenebroso. E assim, deslumbrado, é atraído frente ao sobrenatural, ao simbolismo repleto de significados: um exercício de estranhamento, envolto no prazer. A desordem aí refletida ajuda na manutenção de uma ordem, propondo fluir o equilíbrio de opostos, fruto da tensão. Maffesoli observa que reconhecemos a Beleza da fealdade no momento em que a colocamos dentro de uma outra harmonia: não reduzindo o ser ao “dever ser”. A Cultura da Tradição reconhece essas possibilidades e apropria-se dos defeitos, das desordens do Feio para falar aos outros, passar mensagens, reconhecer que a vida é formada dessas dicotomias necessárias e presentes. Não só de Belo, justo e bom vive o homem, mas a vitalidade da vida está na presença no que é Feio, no injusto e no trágico. [5] Palestra proferida por Celso Favaretto no Espaço Itaú Cultural em julho de 1999.
Segundo Celso Favaretto (1999)5 o conceito de Arte e de artista está arraigado na tradição que identifica a obra-prima, obra sacralizada que revela um conceito bem específico de beleza. A obra assim entendida é desenvolvida a partir de preceitos de perfeição e harmonia. Com o tempo as obras de artes passam a dar lugar aos objetos de arte, que rompem com os cânones tradicionais. Executados em diversos materiais e suportes esses objetos suscitam sensações e Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
264
percepções que dialogam com nossos sentidos, nosso corpo, nossa bagagem cultural e histórica. Nesse intinerário surge o que o filósofo denomina de “belo horror”: a arte desenvolvida dentro de padrões que permeiam a categoria do Feio, revelando-se tão importante quanto a categoria do Belo. Penso que a Cultura da Tradição sabe fazer com esmero essa integração, lidando com os arquétipos da vida e da morte, da ordem e da desordem: juntos e misturados. E assim tudo integra seu contrário, nutrindo-se em um processo renovador. “É inútil negar, ou denegar, a importância do mal, sob suas diversas formas. Também é inútil querer superá-lo. O que é próprio da atitude dramática. É melhor poder e saber integrá-lo. O que caracteriza o trágico” (MAFFESOLI, 2003, p. 148). Creio que o medo e o feio são como irmãos, companheiros que caminham lado a lado, um complementando o outro, porém o Belo também pode acionar nossos mais subterrâneos temores. Tudo isso está sempre atrelado a nossa bagagem, às ligações que fazemos, ao que a máscara significa para cada um. Muitas vezes despertamos nossos temores ao visualizarmos belos brincantes e isso depende de que tipo de perturbação o mascaramento suscita, pois, como destaca Celso Favaretto, a Arte é histórica e cultural. O Carnaval, como expressão artística-cultural, pontuou a flecha do tempo com exemplos de diversas categorias de beleza. Bakhtin (2002) enfatiza que na Idade média o Carnaval, corpo do realismo grotesco, afasta-se do corpo desenvolvido dentro da estética do Belo, aparecendo, pelo contrário, monstruoso, disforme, horrível. O grotesco cômico popular trabalha na esfera do riso, enquanto a estética do grotesco romântico trilha o caminho do medo e suas imagens são expressão do temor. “O medo é a expressão extrema de uma seriedade unilateral e estúpida que no carnaval é vencida pelo riso. A liberdade absoluta que caracteriza o grotesco não seria possível num mundo dominado pelo medo.” (BAKHTIN, 2002, p.41). Muitos depoimentos indicaram que os antigos Carnavais em Bezerros e Afogados da Ingazeira foram regados pela estética do Feio Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
265
e pelo medo dos Papangus. O feio das máscaras medonhas era associado ao sombrio das roupas escuras e maltrapilhas. Esta estética ajudou a nutrir o imaginário daqueles que se lembram do medo sentido pelos mascarados. Em Afogados da Ingazeira, os antigos Papangus, atualmente Tabaqueiros corriam atrás dos moradores, criando momentos aterrorizantes, principalmente para as crianças. E os Tabaqueiros. Ave Maria. Quando ele pegava a ladeira, descia a ladeira com o chicote, ali eu me escondia, porque era interessante. Era muito medo porque realmente eram feios, né? A gente tinha medo era com a mão, meia na mão. Era diferente de hoje, porque hoje é estilizado demais você só vai admirar. Não tem aquele medo. E era medo mesmo. Com o chicote, no meio da rua, descendo atrás da gente. Aí pronto. Era medo de infância. Eu tinha meus seis, sete anos. Eu nasci e saí de lá com meus quinze anos. (Edvânia Alves6). [6] Artesã-artista, residente em Bezerros, mas filha de Afogados da Ingazeira.
Certamente a feiura assustava muito mais pelo que representava para cada assistente do que pela própria estética. Reitero a importância de levarmos em conta a bagagem trazida por cada indivíduo: uma carga de temores, lembranças, estranhamentos. Hoje emborrachadas,
os
Tabaqueiros inspiradas
na
desfilam Beleza
com do
suas
máscaras
horrendo:
olhos
esbugalhados, bocas monstruosas, sangue escorrendo pela face (Dig. 03). Entretanto, como diz Edvânia são “estilizados” e não causam o pavor,
como
suscitado
pelos
antigos
Papangus
afogadenses,
maltrapilhos e amedrontadores, com suas máscaras artesanais. É uma pena que sejam raros os registros fotográficos dos mascarados de outrora. As máscaras de horror usadas na atualidade trazem a expressão da monstruosidade, a sinergia entre o humano e o animal, ou melhor, esse reencontro desse animal adormecido e domesticado. Aí os objetos cênicos adquirem um estatuto transcendente e, nos folguedos populares, esses quase-sujeitos vivem e revivem seres fantásticos. Nas máscaras e fantasias dos Tabaqueiros há um misto de brilho e feiura, cor e terror, suscitando encantamento e temor. Os macacões acetinados, as perucas de papéis brilhantes tecem uma briga ferrenha com as máscaras de monstros, de personagens do cinema de terror, de combatentes das histórias de quadrinhos, de figuras malvadas dos Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
266
contos de fadas. Os chicotes e os chocalhos estão lado a lado de outras armas, como pistolas e metralhadoras de brinquedo (Dig. 04). Os chicotes assustam e os chocalhos imprimem uma sonoridade característica à brincadeira, chamando a atenção dos assistentes, moradores e visitantes. Os chocalhos são realmente um diferencial na indumentária dos mascarados, que se orgulham por exibi-los. Quanto maior o número de chocalhos dependurados nos cintos, maior a satisfação dos brincantes. O som grave e medonho espalha-se pela cidade (Fig.02; Dig.05). O bem e o mal estão passeando, lado a lado, nos caminhos percorridos pelo imaginário dos brincantes. Assim, compartilho com a ideia de que: O próprio do vitalismo, de fato, é funcionar sobre e a partir da ambivalência. A bondade e a crueldade estão, ao mesmo tempo, presentes na natureza. [...] Um verdadeiro humanismo, não esqueçamos, é aquele que sabe integrar homeopaticamente um valor e seu contrário. (MAFFESOLI, 2003, p. 169).
Tanto na Folia dos Papangus de Bezerros, quanto no Carnaval dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira as máscaras contam uma história: elas narram através de estéticas diversas a Beleza do Feio e a força do aterrorizante, mesclando-se, muitas vezes, com a comicidade do grotesco e até a sobriedade do Belo. Cada máscara tece narrativas com os fios do lúdico e do onírico, provocando emoção: medo, alegria, surpresa, prazer e vaidade. Nesse sentido, ordem e desordem formam um dueto mágico e o jogo da brincadeira é viabilizado através do mascaramento (Fig 03 e 04). A máscara não deve ser vista apenas como um utensílio, feito de papel colado e pintado, feito de borracha ou madeira. Ela sempre ultrapassou a categoria de simples objeto e se transformou em algo mágico, que desvela uma emoção contida, acionando sentimentos. [...] Há emoção quando o mundo dos utensílios desaparece bruscamente e o mundo mágico aparece em seu lugar. Portanto não se deve ver na emoção uma desordem passageira do organismo e do espírito que viria a perturbar de fora a vida psíquica. Ao contrário, trata-se da consciência à atitude mágica, uma das grandes atitudes que lhe são essenciais, com o aparecimento de um mundo correlativo, o mundo mágico. (SARTRE, 2010, p. 90). Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
267
Espelhados no exemplo presente na própria natureza, a Beleza do Feio e também do Belo, servem para aguçar o imaginário humano e, consequentemente, o medo. Nesse contexto, a estética das máscaras atiça o temor, o terror, o nojo e o incômodo, tão necessários ao enfrentamento do mundo e fortalecimento do homem (Dig. 06). Aciona o imaginário dos assistentes e, com ele, o prazer, a contemplação, as angústias e os receios. Aí um jogo une o sonho e a realidade, no tempo-lugar da festa carnavalesca. Nesse jogo o imaginário faz-se presente. O ator nunca está sozinho no palco e na vida e a ação que o envolve não é algo bem delineado, controlado, coerente, previsível, bem acabado7. (LATOUR, 2012). Racional e irracional, objetivo e [7] Na concepção da teoria ator-rede o ator é a primeira fonte de incertezas, envolvido em uma gama complexa de ligações (LATOUR, 2012).
afetivo, terno e violento, o Homo complexus caminha entre os ensinamentos científicos e filosóficos e viaja sobre as correntezas dos mitos e na magia. Possuído por ideias e deuses, nutre-se de conhecimentos comprovados e necessárias ilusões e quimeras (MORIN, 2002b).
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
268
[Fig 01] As crianças criando a máscara do Palhaço Pipoquinha: medo transformado em alegria. (Acervo: Fátima Marinho)
[Fig 02] Chicote na mão e chocalhos no cinto. Os mascarados circulam no centro de Afogados da Ingazeira. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
269
[Fig 03] Papangus de Bezerros: o feio das máscaras narrando uma história. (Acervo Graça Costa)
[Fig. 04] Estética de terror na máscara do Tabaqueiro. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 5 – O Medo: Feio ou Perturbador?
270
6. A VAIDADE: FAZER-SE VER
Aspirar à honra quer dizer “tornar-se superior e desejar que essa supremacia apareça também publicamente”. Se falta a primeira coisa e, apesar disso se ambiciona a segunda, falase em vaidade. Se falta a segunda e não se dá por sua falta, então se fala em orgulho. (NIETZSCHE, 2006, p. 160). A natureza humana consiste no conjunto de seus delegados e de seus representantes, de suas figuras e de seus mensageiros (LATOUR, 2009, p. 136).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
271
Os mitos narram histórias de amor, desilusões, interesses, assédios, paixões não correspondidas. Dentre tantas dessas narrativas temos o amor entre Eco, uma Ninfa, amante dos bosques e das florestas e Narciso, filho do deus-rio Cephisus e da Ninfa Liriope, cuja característica principal era a vaidade. Ao nascer, os pais foram avisados que Narciso não deveria nunca contemplar a si mesmo, pois se o fizesse, poderia morrer. Cuidadosamente, todos os espelhos da casa foram imediatamente retirados ou encobertos. Tornando-se um belo e forte jovem, Narciso sabia que era possuidor de uma beleza diferenciada e envaidecido achava que ninguém merecia o seu amor. Eco, ao aproximar-se dele, sentiu logo o seu desprezo ao revelar sua paixão. Não sendo correspondida, a bela Ninfa definhou e morreu de tristeza, só restando a sua voz, que passou a ser ouvida em todos os cantos das florestas, nos penhascos, nas cavernas, ressoando repetidamente, os sons de vozes alheias. A vaidade de Narciso foi o motivo de sua desgraça. Ao dirigir-se a uma límpida fonte cristalina observou sua imagem refletida no espelho d‟água, apaixonando-se pelo seu próprio reflexo. Deslumbrado com tanta beleza, o vaidoso Narciso tentou confessar seus sentimentos ao ser que visualizava no espelho d‟água, entretanto, toda vez que colocava as mãos na água para tocá-lo fazia com que a imagem desaparecesse, tornando-se turva e imperceptível. Essa foi a maior das desilusões de Narciso: um amor que dissolvia-se cada vez que tentava demonstrar o seu carinho. Assim, da mesma forma que Eco, ele provou da amarga bebida que é o desprezo. O tempo foi seguindo sua estrada invisível e Narciso continuou à beira do lago, preocupado unicamente em contemplar-se. Alguns dizem que morreu de inanição, outros, que se afogou, na tentativa de abraçar a própria imagem. No local de sua morte nasceu uma linda flor que foi batizada com seu nome. Ainda hoje os belos narcisos de diversas cores, continuam sendo colhidos nas margens dos riachos (AQUINO, 2007).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
272
6.1 Os Labirintos da Vaidade A máscara implica uma comunicação recebida e aceita, faz o espectador entrar em um círculo não real sugerido pelas formas que ela adiciona ao rosto humano. (DUVINAUD, 1983, p.83).
A vaidade é um sentimento que está impregnado nas entranhas do homem. Vive como uma substância, na mente e no coração, nutrindo os desejos de aproximar-se do inefável, transcendendo e ludibriando a doença, a velhice e a morte. A vaidade está atrelada à beleza, à sedução, ao exibicionismo, ao hedonismo. Ela faz com que os indivíduos ultrapassem limites, superem barreiras e vivenciem o prazer, muitas vezes só alcançado pelos sacrifícios e pela dor. A vaidade liga-se à aparência e [...] Ao contrário do que frequentemente se afirma, a aparência é tudo menos individualista. Muito pelo contrário, constrói-se sob e para o olhar do outro. É nesse sentido, aliás, que remete ao simbolismo, é por isso também que podemos falar de uma mitologia da máscara. (MAFFESOLI, 2003, p.119).
O exercício da vaidade exige a presença do eu e do outro, porque para que esse sentimento se torne ação, faz-se necessário que muitos verbos sejam conjugados de forma particular e conjunta: mostrar-se, amostrar-se, aparecer, surpreender, encantar, chamar atenção, exibir-se e tantas outras formas de despertar esse sentimento. (Fig. 01, Dig. 01). Assim, a vaidade exige um espelho que viabilize o se ver a partir do reflexo: imagem observada detalhadamente. Necessita também dos olhos do outro, parente, ser amado, amigo, vizinho, colega, desconhecido: aquele que contempla. Envaidecer-se e fazer-se ver torna-se um ato repetido constantemente a cada dia de nossa existência. Sendo um dos sete pecados capitais, é motivo de condenação. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer o seu valor enquanto elemento motivador, que suscita prazer. Como o espírito humano seria pobre sem a vaidade! Mas com ela se parece com uma loja comercial bem estocada e estocando-se sempre de novo que atrai clientes de toda espécie; eles podem encontrar nela quase tudo, contanto Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
273
que tragam com eles o tipo de moeda válida (a admiração). (NIETZSCHE, 2006, p. 87).
A admiração é parceira da vaidade. Ser apreciado; estar belo, ser desejado; suscitar comentários. E nessa relação a dois ou tecida no conjunto há o intercâmbio de emoções, de sentimentos, de afetos. Sendo instáveis e versáteis e variando conforme os lugares e situações, os afetos são causa e efeito do jogo das aparências. (MAFFESOLI, 2003). O vaidoso sente uma grande satisfação em se mostrar, exibirse, despertar inveja: o Narciso, apaixonado pela sua própria imagem, seduz e é seduzido. “Se a vaidade não cria o Narciso, o reproduz de maneira notável e faz dele uma ferramenta de representação e apresentação do indivíduo perante os outros” (SÁ; GONTIJO, 2010, p. 07). A vaidade torna-se um aliado da autoestima, porém, quando potencializado pode gerar desequilíbrio emocional e até mesmo dificuldades de relacionamento. A vaidade mantém uma relação com a estética do corpo. Existe um vasto campo da sociologia que atenta para a importância da corporeidade na vida individual e coletiva. Esse universo de estudo dedica-se à compreensão das lógicas sociais e culturais que envolvem as significações individuais e coletivas do uso corporal. “Através do corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para outros, servindo-se dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da comunidade” (LE BRETON, 2007, p.07). Sabemos nos servir de nossos corpos para desenvolvermos inúmeras atividades cotidianas e, para isso, permanentemente nos apropriamos das técnicas corporais (MAUSS, 2003c). Existe uma cobrança através dos meios de comunicação em relação a um corpo dentro de padrões vendidos pela mídia. Isso influencia indivíduos e grupos que acreditam que serão mais admirados se responderem estiverem dentro desses padrões. A busca por uma imagem mais atraente é um objetivo do humano, que usa dos mais variados artifícios para alcançá-la. A feiúra e o envelhecimento podem atingir diretamente a autoestima, gerando Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
274
até um sentimento de inferioridade. A ação da aparência coloca o ator sob o olhar apreciativo do outro e, principalmente, na tabela do preconceito que o fixa de antemão numa categoria social ou moral conforme o aspecto ou o detalhe da vestimenta, conforme também a forma do corpo ou do rosto. (LE BRETON, 2007, p.78).
A história assinala a criação de um mercado em torno da beleza do corpo e da dinâmica da vaidade. Em tempos remotos surgiram as primeiras poções de embelezamento feitas artesanalmente. Com o passar dos anos foram criadas as indústrias de cosméticos. O uso de vestuário e adereços foi usado para embelezar a aparência física. A partir de meados do século XX, teve início o domínio de técnicas de cirurgia plástica, trazendo soluções duradouras e até mesmo definitivas na aquisição da beleza. Com a ajuda dos avanços tecnológicos, procurou-se uma imagem que atraísse: redimensionou-se o indivíduo e sua auto-estima. “A beleza, que antes era obra da natureza e da genética, passou a ser adquirida como artigo de primeira necessidade” (SÁ; GONTIJO, 2010, p. 02). Além de todas essas possibilidades anteriormente descritas, o homem também utilizou do mascaramento para enaltecer sua beleza e, consequentemente, ampliar sua vaidade. Belas máscaras possibilitaram novos rostos, escondendo, muitas vezes, faces desfiguradas, envelhecidas, fora dos padrões de beleza desejados. Na vida cotidiana, nas encenações teatrais, nas festas, nos rituais, máscaras com diversas formas, texturas, cores, são confeccionadas com esmero, permitindo que novas faces encubram rostos que almejam tornarem-se atraentes personagens: nesse processo de troca a vaidade marca presença. 6.1.1 Sedução: A Linguagem das Brincadeiras Em resumo, é necessário ver e ser visto para existir. Para dizer de outro modo, não existimos senão no e pelo olhar do outro. (MAFFESOLI, 2003, p.129).
A linguagem é um veículo de transmissão e um poderoso instrumento que permite dar sentido ao mundo, possibilitando que as Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
275
pessoas indaguem sobre o seu universo, compreendendo melhor suas [1] A Antropologia Linguística, revelando a importância deste campo de abordagem, tem se dedicado ao estudo das línguas e da linguagem, como valiosos elementos que fazem parte da vida dos indivíduos e dos grupos.
experiências existenciais1. Há uma linguagem própria das brincadeiras dos mascarados. Algo que seduz, emociona, envolve tanto os brincantes quanto aqueles que vêem as máscaras, e, os personagens por elas suscitados (Dig. 02 e 03). A maneira como adquirimos e desenvolvemos a linguagem depende do contexto no qual a aprendemos e a usamos e em que grau e forma ela nos ajuda em nossa vida diária. Esses elementos que envolvem e interferem na aprendizagem são mediados culturalmente. Neste sentido, deve-se pensar nas formas em que padrões culturais, por exemplo, atividades culturais específicas, podem influenciar o uso linguístico e determinar as funções da linguagem na vida social. Comunidades diferem nas maneiras em que utilizam e valorizam os nomes, o silêncio, a narração de histórias tradicionais e os mitos (HYMES 1966, apud DURANTI, 2001). No processo comunicativo existente entre os indivíduos, a escrita, a fala, os gestos formam um conjunto de signos repletos de significados, viabilizando a criação de textos, inseridos em determinados
contextos,
construindo
assim
a
atividade
que
denominamos de discurso. Existem vários conceitos de discurso, ligados a diferentes correntes epistemológicas, mas geralmente o termo “[...] é empregado para se referir a todas as formas de fala e textos, seja quando ocorre naturalmente nas conversações, como quando é apresentado como material de entrevistas, ou textos escritos de todo tipo” (BAUER; GASKELL, 2002). Numa outra perspectiva, enquanto prática social, imerso em relações de poder e saber, o discurso pode ser entendido como um conjunto de enunciados que se apoia na mesma formação discursiva (FOUCAULT, 1986). É percebido então como: [...] um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência (e não simplesmente em suas „aplicações práticas‟) a questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política (FOUCAULT, 1986, p. 139).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
276
Numa perspectiva dialógica, que realça a ideia de conflito e da pluralidade de vozes que “se enfrentam no texto”, Mikhail Bakhtin nos traz uma teoria baseada na polifonia, nas múltiplas vozes que falam em um mesmo discurso (apud FISCHER, 2001). No contexto carnavalesco os discursos são formatados na construção da linguagem própria da pândega festiva e nela estão envolvidos os brincantes, os turistas, os moradores das cidades. No contexto social, a linguagem e a cultura dão significados às nossas experiências e à nossa identidade. Os atores envoltos na dinâmica do discurso são reconhecidos como sujeitos, indivíduos ou grupos. (WOODWARD, 2009). Entretanto é importante atentarmos não apenas para os grupos de indivíduos, mas para o coletivo, formado pelos humanos e não[2] Nesse tipo de conexão “[...] todos os elementos heterogêneos precisam ser reunidos de novo em uma dada circunstrância”. (LATOUR, 2012, p.23).
humanos2 (LATOUR, 2012). Todos são narradores, desenvolvem ações, ajudam a formatar as associações, produzem vínculos sociais e se comunicam. A partir desses elementos que cercam a linguagem e os discursos, reflito sobre a dinâmica das brincadeiras dos mascarados que no Carnaval alegram as ruas e praças, fruto de uma tradição passada através de gerações: penso nas construções identitárias dos indivíduos e dos lugares Essas manifestações, resultado do convívio familiar e de vizinhança, trazem os ensinamentos necessários para a manutenção e transformação da tradição compartilhada. E, neste movimento, ser brincante é mais uma, dentre tantas identidades possíveis de serem desenhadas no contexto da mobilidade dos tempos atuais. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p. 13).
Ser brincante não é apenas vestir uma fantasia e sair exibindose nas ruas. Existe toda uma preparação, uma organização, um planejamento prévio que antecede os momentos de pândega e Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
277
envolvem os sujeitos, culminando nos dias de Carnaval. Ser brincante é participar do movimento festivo, inserindo-se no contexto coletivo, usando uma linguagem apropriada a cada folguedo: ação tecida na cena pública. Neste processo, o corpo atua como instrumento de expressão e os gestos oportunizam a comunicação. A partir deste entendimento observo que os grupos que desenvolvem os folguedos constroem formas de linguagem relevantes e características para a elaboração e manutenção das brincadeiras. Os brincantes compartilham um modo de comunicação comum, valoroso para o desenrolar de cada manifestação. Na Cultura da Tradição há uma linguagem própria de cada folguedo, que viabiliza as relações estabelecidas entre os brincantes, moradores e visitantes. Através dos textos construídos no contato entre os mascarados e assistentes, identidades são desenvolvidas e trocas de sentimento, sedução, emoção e prazer embasam o convívio grupal, nas residências, nas ruas e praças, dentro da multidão que se aglomera para vivenciar a festa. Nessa dinâmica, a vaidade apresentase como um elemento presente e significativo. Os mascarados vivem o jogo da sedução, usando seu corpo como instrumento para fazer-se ver. Cada brincadeira traz características peculiares, formas de falar através do corpo, dos movimentos, da interação com os assistentes e tudo isso se transforma num discurso significativo. Para o desenvolvimento dessa aprendizagem foi de suma importância os ensinamentos do campo durante a pesquisa de Mestrado. Em relação à brincadeira dos Caretas recordo que no primeiro contato que tive com os mascarados de Triunfo, alguns anos antes de iniciar a minha pesquisa
fiquei
surpresa
e
encantada
com os
movimentos
desenvolvidos por aqueles corpos totalmente encobertos pelas coloridas fantasias acetinadas. Eu presenciara uma apresentação de [3] Treca é o nome dado a um grupo de Caretas, que geralmente brincam em conjunto no Carnaval e se apresentam durante o ano para os visitantes da cidade. Existem muitas trecas em Triunfo. (COSTA, 2009a).
uma treca3 para visitantes da cidade. Chegaram estalando seus relhos no ar, balançando os chocalhos que tilintavam pendurados nas tabuletas coloridas, exibindo os seus corpos em movimentos retos e oblíquos, lentos e impetuosos. Suas vestes brilhantes de cetim, os chapéus enfeitados com flores e fitas, as máscaras reluzentes com desenhos multiformes, as botas que lhes davam uma dimensão ainda maior, formavam Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
278
um conjunto inesquecível, de rara beleza. Tanto eu como outros visitantes ficamos impactados e admirados com a apresentação daqueles personagens, com a destreza que tinham ao usar os chicotes em duelo. (COSTA, 2009a, p.23).
Os mascarados, com uma desenvoltura de quem tem o pleno domínio de cada gesto, movimentavam os braços estalando os longos relhos no ar. O som dos chocalhos, dependurados em pesadas tabuletas de madeira carregadas pelos brincantes, produziam um fundo musical característico, acompanhando de forma compassada a agitação dos corpos. Nenhuma palavra dita, nenhuma articulação de voz ouvida: apenas um profundo silêncio, entrecortado pelo estalido dos chicotes e a sonoridade dos chocalhos. Os olhos brilhavam sob as máscaras, nos pequenos orifícios: janelas da emoção (Fig 02). Quantas coisas foram ditas através da gestualidade e do silêncio daqueles belos brincantes. Ali, e durante as festividades carnavalescas, os mascarados revelavam uma identidade- a de ser Careta - edificada a partir de aprendizagens adquiridas pela educação familiar e de amizade, num exercício individual e exemplo grupal. Em um contexto de troca, a linguagem do corpo se compõe “graças ao efeito conjugado da educação recebida e das identificações que levaram o ator a assimilar os comportamentos de seu círculo social” (LE BRETON, 2007, p. 09). Em Triunfo, Bezerros e Afogados da Ingazeira, como em tantas outras cidades pernambucanas, a tradição dos folguedos vai ajudando a formatar a identidade dos brincantes e dos papéis que desempenham no movimento de mudanças e permanência que cercam as relações: “não importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar” (FOUCAULT, 1986, p.139). Esse lugar é um espaço de representação social, onde o indivíduo desempenha papéis no contexto familiar e profissional. Como em tantas outras ações cotidianas, a brincadeira dos mascarados pode ser entendida como mais uma atividade discursiva, embebida pela vaidade. Os indivíduos sentem o prazer de brincar, de se fantasiar e de viver um anonimato temporário durante a festa: de
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
279
ser um representante da tradição cultural de sua cidade e de aparecer como tal. A vaidade brota dessa possibilidade de ser temporariamente um outro, a partir do mascaramento: um jogo coletivo de sedução. Há o desejo de ser visto, assediado, elogiado pelos moradores e turistas que acolhem e incentivam os mascarados A população de Bezerros é muito acolhedora, não só de Bezerros, mas o que visita lá. Assim, tirar foto. Dizer que tá bonito, que tá de parabéns, que merece o primeiro lugar. A população é muito acolhedora, não só a população mas os que vêm de fora, os turistas também. Respeitam e adoram. (Marília Gabriela de Souza)
Em nossas variadas identificações, ampliamos as possibilidades de nos relacionarmos, de construirmos discursos apropriados a cada situação, tempo e lugar. A linguagem, seja oral, escrita ou gestual pode aproximar ou afastar as pessoas e com isso criar ou romper fronteiras. Tem também a função de identificação dos indivíduos com o grupo, transmitindo sentimentos e emoções. Percebi que era essencial compreender porque determinada forma de linguagem estava sendo usada e as conseqüências para tal uso, dentro das interações sociais. Nos folguedos estudados foram diversas as funções que consegui captar na forma de comunicação dos brincantes e, dentre eles, destaco a fala do corpo e a sonoridade do silêncio. Até os anos 60 antropólogos linguistas questionavam se a linguagem guiava a compreensão de mundo dos falantes e presumiam que as expressões linguísticas podiam ser identificadas e isoladas do fluxo de comportamento dentro da ação social, constituindo recursos autônomos, possíveis de serem investigados em si. Recentemente uma nova abordagem foi adotada e passou-se a reconhecer a fala fazendo parte de uma ampla gama de atividades. Nesta perspectiva, há o interesse pela exploração semiótica do corpo humano e a importância dos gestos como forma de expressão (HAVILAND 1996; LEVINSON 1996; 1997, apud DURANTI 2001). A corporeidade humana deve ser vista enquanto fenômeno social e cultural: motivo simbólico. O corpo, objeto de representações, é “[...] o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída [...]” (LE BRETON, 2007, p.07). Enquanto Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
280
instrumento da comunicação humana, a corporeidade permite que o homem faça do mundo uma extensão de sua própria experiência, tornando-o familiar e coerente, para que possa compreendê-lo e transformá-lo. “Emissor e receptor, o corpo produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural.” (LE BRETON, 2007, p. 08). O corpo, e a forma como nos expressamos através dele, ajudam a revelar identidade e diferença. Estas são criações sociais e culturais, resultado de atos de criação linguística: instituídas por meio de atos de fala e compreendidos apenas dentro dos sistemas de significações nos quais adquirem sentido (SILVA, 2009). Através da corporeidade trilhamos caminhos, delimitamos espaços, ultrapassamos limites e nos comunicamos socialmente. “O corpo é um dos locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a identidade” (WOODWARD, 2009, p. 15) (Dig. 04 a 06). Os gestos envolvem nossas vidas nos espaços e atividades específicas. O corpo do brincante, com uma estética própria, é mais um especial veículo de comunicação e, consequentemente, de vaidade. Nas brincadeiras dos mascarados carnavalescos vi a gestualidade como um caro instrumento de linguagem e sedução usado pelos Caretas, Papangus e Tabaqueiros. Silenciosos eles falaram através dos gestos, criando um eficiente canal comunicativo com os assistentes: um jogo que misturava encanto, fascínio e atração. Balançavam a cabeça, movimentavam mãos e braços, corriam pelas ruas da cidade, estalavam os chicotes no ar, construiam discursos repletos de significados: seus corpos falavam e, juntamente com as máscaras, os identificavam, criando-lhes a identidade de brincante, cuja essência era a alegria, a irreverência,
a
criatividade
e
a
liberdade,
próprios
dessas
manifestações. O silêncio, por sua vez, foi um valioso aspecto a ser percebido. Em muitas comunidades ele é usado como forma de exclusão. Através dele podem-se ignorar pessoas, isolar-se no coletivo, abstrair-se de emitir opiniões. No caso das brincadeiras dos mascarados, o silêncio Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
281
possibilitou a preservação do anonimato, permitindo ao brincante não ser reconhecido pelo uso da comunicação oral. Ele acirra a curiosidade e faz com que o mascarado e os assistentes construam laços simbólicos, marcados pelo jogo da adivinhação. O silêncio seduz e a máscara viabiliza esse jogo (Dig. 07 e 08). Na brincadeira os mascarados mantêm segredo de sua identidade nata e, silenciosos, ou disfarçando a voz, elaboram um jogo que envolve brincantes, parentes, amigos, vizinhos e turistas. A identificação da voz do mascarado pela comunicação oral é um risco para quebrar o encanto lúdico da brincadeira. “A gente além da máscara a gente muda a voz também. Faz uma vozinha diferente. Tem Papangu que fica mudo porque não consegue disfarçar a voz” (Suely Aparecida). Como os Caretas, os Papangus, com suas máscaras de cores e formas variadas, desfilavam silenciosos pelas ruas de Bezerros. Os Tabaqueiros, também utilizavam esse recurso para aproximar-se das pessoas e fazê-las entrar no jogo da adivinhação. Em alguns momentos eles rompiam essa prática articulando algumas palavras que faziam parte da dinâmica do folguedo. “Dá um trocadinho!” E nesse cosmo, a comunicação se processava ativamente. O silêncio apresentava aqui mais um recurso de comunicação, necessário para o jogo da brincadeira. Para os mascarados e assistentes, significava um elemento culturalmente padronizado, com uma função determinada coletivamente. A fonologia, a gramática e o léxico que eram os alvos da descrição linguística tradicional passam, com o transcorrer do tempo, a constituir apenas uma parte dos elementos reconhecidos no código usado para a comunicação. Os fenômenos paralinguísticos e nãoverbais que têm significados convencionais em cada comunidade de fala, também são incluídos e reconhecidos como fundamentais para a transmissão de informação social. Em algumas comunidades nativas as forças da natureza - como o trovão -, os animais domésticos, os instrumentos musicais, as forças sobrenaturais, “falam”. (SAVILLE – TROIKE, 1982). Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
282
Essas colocações me fizeram pensar nas coisas ditas pelos objetos usados nas brincadeiras. Os chicotes, as tabuletas e cartazes, os chocalhos e as máscaras comunicavam e, indubitavelmente, diziam mais do que muitas formas de comunicação oral. Como na brincadeira dos Caretas, os chicotes usados pelos Tabaqueiros, ao riscarem o céu, emitiam um forte som, um estalido que assustava, amedrontava, inibia os assistentes.
Sendo objetos
importantes para o imaginário vivenciado nesses folguedos, os instrumentos transcendiam a função de adorno, denotando poder e força. Acredito que, ainda hoje, o chicote traz uma forte carga simbólica, indexando ao texto construído pelos mascarados as imagens de lembranças do seu uso, no jugo de animais e na escravidão de humanos. Ele fala de tristes e impiedosas ações que marcaram a memória individual e coletiva: ajuda na criação de personagens que reconstroem a memória. Nos Carnavais atuais a destreza com o relho qualifica os brincantes nas apresentações e julgamento dos Concursos municipais (Dig. 09). Também de grande valor para o processo comunicativo entre os mascarados, moradores e visitantes foram os textos colocados em placas, tabuletas e cartazes. Aí a linguagem escrita reforçava a intenção de cada brincante, ajudando-lhe a falar do que não podia ser expresso pela comunicação oral. Os Caretas, por exemplo, carregavam as pesadas tabuletas em madeira com chocalhos dependurados, os quais alertavam a população para sua presença nas ruas. Nelas eram pintadas criativas mensagens, provérbios, frases retiradas de pára-choques dos caminhões, pensamentos sobre temáticas atuais. As placas acionavam uma forma de comunicação e empatia entre os mascarados moradores e turistas, que se divertem ao lerem as frases “picantes” (COSTA, 2009a) (Dig. 10). Observei nas ruas de Bezerros que os Papangus também propagaram suas mensagens em cartazes, placas, painéis, usando esses suportes para comunicar-se com a audiência. Os rápidos textos, de fácil leitura, estavam repletos de irreverência e serviam para ressaltar as Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
283
ideias trazidas pelos brincantes, a temática das fantasias e reforçavam o poder das máscaras e dos personagens viabilizados a partir delas. Alguns Tabaqueiros também utilizavam esses recursos, usando as capas das fantasias como base para expor suas mensagens (Fig.03; Dig. 11). A grandiosidade dos Carnavais do Renascimento e Idade Média pode ser um exemplo para pensarmos o contexto da festa dos dias atuais. Havia ali uma “[...] eliminação provisória, ao mesmo tempo ideal e efetiva, das relações hierárquicas entre indivíduos, [...]” (BAKHTIN, 2002, p.09), criando nas ruas e nas praças, um tipo particular de comunicação, a partir de formas especiais de vocabulário e gestos, francos e sem restrição. A linguagem carnavalesca típica abolia a distância entre os indivíduos em comunicação. Na alegre gramática produzida pelo realismo grotesco, presente nesses Carnavais, as categorias gramaticais e as formas verbais eram transferidas ao plano material e corporal, destacando-se o elemento erótico, também presente nas tabuletas dos Caretas. Os brincantes tentavam chamar a atenção dos assistentes, provocando o riso e a diversão, pela escrita não censurada. Realçava-se aí o riso carnavalesco, jocoso, ambivalente, sarcástico: “[...] O riso popular ambivalente expressa uma opinião sobre o mundo em plena evolução no qual estão incluídos os que riem” (BAKHTIN, 2002, p. 11). As
metáforas,
provérbios
e
piadas
são
indexadores
comunicativos. Muitas vezes o que não pode ou não deve ser dito diretamente é proferido por estes artifícios linguísticos. As mensagens trazidas pelos brincantes enunciavam essa intencionalidade, uma funcionalidade explícita: [...] a linguagem usada nas tabuletas dos brincantes representa uma forma de envolver as pessoas em uma experiência compartilhada: a brincadeira do desvendar. Afastando-se da lógica do “dever ser”, que privilegia o projeto, a produtividade, o puritanismo, a brincadeira vai valorizar o que é sensível, a comunicação entre as pessoas, a emoção coletiva. (COSTA, 2009a, p.108).
A máscara é imprescindível para todo o jogo do segredo, do anonimato, da vaidade, da sedução, tendo o duplo papel de ocultar e comunicar: e assim múltiplas identidades são constituídas e vividas na Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
284
pândega festiva. Compreendo também que muito mais que um simples adorno, a máscara constroi novas identidades, ajudando o indivíduo a ser outro, a mudar de face, a encarnar infinitos personagens e através deles, poder expressar múltiplos discursos: as máscaras falam, mostrando toda uma intencionalidade de quem as usa: desejo de se comunicar, ser visto e apreciado (Dig. 12). Desde os primórdios da brincadeira as máscaras dos Caretas possuem um aspecto medonho. Fazendo uma analogia com as máscaras que simbolizam o teatro, que trabalham o antagonismo das expressões feliz /triste; cômico/trágico, elas têm o design do segundo elemento dos pares de opostos: a tristeza, a melancolia, o trágico, o medonho (COSTA, 2009a). Essa é realmente um aspecto emblemático na identidade do mascarado triunfense, marcando a história do folguedo. Os Papangus, por sua vez, utilizam hoje uma diversidade muito grande de máscaras. Muito me impressionou a abundância dos materiais e temáticas presentes na folia dos mascarados bezerrenses. Desde as mais clássicas, semelhantes às usadas nos Carnavais de Veneza, até as produzidas com sucatas e materiais artesanais, as máscaras criam personagens dos mais diversos universos culturais. Mexicanos, Estrelas, Fadas, Monstros, Personagens épicos, Negras malucas, Palhaços e mais centenas de figuras das mais variadas temáticas. Os Papangus multifacetados desfilavam pelas ruas de Bezerros, repletas de moradores, turistas e repórteres. Ali presenciei sempre uma comunicação intensa, uma empatia regada pela alegria e emoção festiva. Os mascarados seguiam nas ruas, paravam para os fotos, mostavam a satisfação de fazer-se ver. Empavonavam-se e envaideciamse com o assédio dos visitantes. Alguns desenvolviam coreografias ensaiadas, em grupo ou individualmente, para chamar ainda mais a atenção e seduzir (Dig.13). Na brincadeira dos Tabaqueiros existe hoje um uso quase totalitário de máscaras industrializadas, vendidas no comércio, cuja temática marcante remete aos personagens ligados ao mal e ao terror. Desde personagens das histórias infantis até figuras conhecidas do Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
285
cinema, esses quase-sujeitos vão identificando o imaginário de seus usuários, falando de seus sonhos, desejos e expectativas. Os grupos de Tabaqueiros, marcados pela diversidade, desfilam incansavelmente pelas ruas da cidade, com suas fantasias e adereços: exibem-se para as fotos (Fig 04; Dig. 14 e 15). As máscaras comunicam e dizem muito das novas vidas de seus usuários enquanto brincantes, de suas escolhas dentro do universo simbólico, tão caro à dinâmica carnavalesca. Elas contam histórias que já estão atreladas aos personagens por elas representados. São assim indexadores de identidades concebidas em conhecidas narrativas: [...] “tal como os mitos, as máscaras não podem ser interpretadas em si e por si, como objetos isolados.” (LÉVISTRAUSS, 1979, p. 15). Ao que remete de imediato a máscara do Lobo-mau usada pelo pequeno Tabaqueiro, ou a de São Jorge, escolhida pelo Papangu? As lembranças de conhecidas narrativas chegam logo em nossas mentes e passamos a compartilhar, com os brincantes, a possibilidade de conviver com esses novos sujeitos, aguçando o imaginário que os cerca. Compartilho com a ideia de que “as produções do imaginário não estão unicamente destinadas à transmissão da palavra: inscrevemse nos sistemas de práticas mais ou menos dramatizadas, chegam à materialidade por meio da criação artística – principalmente a arte das máscaras”(BALANDIER, 1997, p.144). E nesse sentido, um universo se forma envolto de simbolismo e se torna possível pela dinâmica da comunicação criada no Carnaval. A reunião de humanos e nãohumanos possibilita que a linguagem seja produzida, transmitida, repassada, admirada: a criatividade dos mascarados escreve narrativas impressas na cartilha da vaidade (Dig.16). 6.1.2 Espelho, Espelho Meu: A Beleza do Belo Tanto a Beleza do Feio quanto a Beleza do Belo têm um valor fundamental como expressões da natureza, da cultura e para compreensão da dinâmica existente nas brincadeiras dos mascarados. O Risível, a Beleza do Feio, a Beleza do horrível e o Cômico marcaram de Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
286
forma contundente a estética dos folguedos dos Papangus e Tabaqueiros nos prelúdios das brincadeiras e continuam sendo fundamentais para o movimento da tradição: a presença da desordem e da desarmonia, tão valiosas para a pândega carnavalesca. A Harmonia, representada nos quatro aspectos inerentes a um universo construído sobre alicerces da ordem, traz, também elementos importantes para pensarmos sobre a vida das máscaras na folia agrestina e sertaneja e podermos ampliar as reflexões para outros municípios pernambucanos. O Gracioso, o Belo, o Sublime e o Trágico, permeiam, de forma diferenciada, os folguedos. A partir desses campos da estética, imagens são refletidas em espelhos multifacetados, revelando Narcisos e soando as vozes da emoção, do sentimento, da paixão entre mascarados e assistentes, tão fortes quanto os sons propagados ao infinito. A Beleza está quase sempre associada a outras qualidades, por isso mesmo que muitas vezes existe um estreito laço entre aquilo que é Belo e o que é bom, porém o bom geralmente provoca o desejo de ser possuído, enquanto o Belo pode ser apenas contemplado, comovendo, agradando, suscitando admiração e atraindo o olhar. “„Belo‟- junto com o „gracioso‟, „bonito‟ ou „sublime‟, „maravilhoso‟, „soberbo‟ e expressões similares- é um adjetivo que usamos frequentemente para indicar algo que nos agrada” (ECO, 2010, p.08). O Belo está atrelado à proporção, a uma ordem geométrica, a relações de medidas pautadas na harmonia e no ritmo. Eu mesma fui constantemente envolvida por essa realidade mágica nas ruas de Bezerros, e pude me emocionar ao percorrer também as ruas de Veneza, tecendo comparações com elementos encontrados na cidade [4] Vide Capítulo 08
interiorana4. Em Bezerros, muitos brincantes retratavam o encanto de coloridos personagens épicos, de figuras tiradas dos sonhos, de seres imaginários que espalhavam o brilho e a cintilância que encobriam as faces de papel machê. Ali fiquei surpresa pelas aulas de criatividade e bom gosto. Os simples e feios Papangus que originaram as brincadeiras se metamorfosearam com o tempo, registrando o processo inegável do movimento da tradição. Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
287
Nos dias em que estive em Veneza visitei as lojas de máscaras e conversei com os artesãos-artistas. Fiquei gratificada ao constatar que a manutenção de uma tradição de muitos séculos era preservada renovada, em cada recanto da cidade, que exalava o encantamento do imaginário que mantinha viva a Arte das máscaras. Tanto em Bezerros quanto na cidade Italiana, a Beleza do Belo era refletida nos espelhos dos brincantes, nas lentes das máquinas fotográficas dos turistas, nos olhos dos visitantes que se encantavam com os detalhes das máscaras; tudo isso assinalava o diálogo existente [5] Essa questão será abordada no Capítulo 08.
entre o local e o universal
5
(Dig. 17). E em cada um desses espelhos
caleidoscópicos havia uma lição a ser aprendida. Cada imagem refletida: está repleta de germinações relacionadas à questão do duplo: encontro do Outro no Mesmo. Jorro virtual de imagens que configuram a alegoria do espelho, na qual a imagem refletida gera um paradoxo, pois é e não é real; o que denota o imbricamento entre real e imaginário, dimensões que forjam e retroalimentam a polifonia dos sentidos. (AMORIM; NOGUEIRA COSTA, 2010, p. 132).
Naqueles dois lugares, Bezerros e Veneza, separados por milhares de quilômetros de distância, os habitantes tinham formas próprias de se relacionarem com a natureza que os cercava e com a cultura que os envolvia; as palavras eram ditas através de línguas distintas e a poesia cantada na musicalidade de cada região. Cada contexto era marcadamente diferenciado e as máscaras falavam, amplificando os discursos dos silenciosos brincantes (Dig. 18). Elas narravam verdades sobre a importância do Belo para o homem e sobre a ligação dos indivíduos com a vaidade: sentimento que nutre, afaga, ajuda e dá prazer.
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
288
[Fig. 01] O brincante se exibe nas ruas de Bezerros: vaidade à olhos vistos. (Acervo Graça Costa)
[Fig 02] Os Caretas de Triunfo: linguagem compartilhada. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
289
[Fig.03] Cartazes anunciam a identidade do Papangue sua alegria por ser brincante. (Acervo Júlio Pontes)
[Fig. 04] Tabaqueiros nas ruas: momento de se mostrar . (Acervo Graça Costa)
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
290
Sendo um dos mais respeitados deuses olímpicos Apolo, filho de Zeus e Leto, sempre foi um símbolo de inspiração profética e artística. Suas lendas foram repetidas incessantemente, influenciando a vida política e espiritual do mundo grego. Ao nascer, Zeus lhe cobriu de presentes, dando-lhe uma mitra de ouro e um carro puxado por cisnes. Temido pelos outros deuses, Apolo tinha o poder de proteção contra as forças malignas. Considerado deus da beleza, da razão, da harmonia, do equilíbrio, sempre foi representado exibindo todo o vigor da jovialidade e encanto. Com seu manto envolvendo-lhe o corpo musculoso, encantava o universo, pela sonoridade e magia de sua lira. Músico, era diretor do coro das Musas, com as quais teve muitos romances. A ele foi dedicado o templo de Delfos, no qual se apropriou do Oráculo, de mesmo nome. Revelava-se somente aos bons, não se mostrando a todos. Apolo era também conhecido como o deus da luminosidade, soberano das horas douradas do dia e da perfeição espiritual. Ligava-se às imagens figurativas e representava a aparência, a ordem e a medida. (GRIMAL, 2009).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
291
6.2 Espetacularização: Sob os Flashs e Holofotes. A actividade inconsciente do homem moderno não cessa de lhe apresentar inúmeros símbolos, e cada um tem certa mensagem a transmitir, uma certa missão a desempenhar, tendo em vista assegurar o equilíbrio do psique e restabelecê-lo. (ELIADE, 1992, p. 218).
O Carnaval nas cidades de Bezerros e Afogados da Ingazeira, transforma-se a cada ano em um espetáculo de proliferação de imagens e isso afeta tanto a questão das construções identitárias dos brincantes, quanto dos lugares. Para Augé “Todos os fatos hoje são „midiatizados‟” (1997, p.105) e existe no mundo contemporâneo um excesso de acontecimentos que interferem na linguagem da identidade. A mídia coloca as pessoas em relação ao mundo inteiro e neste movimento, os brincantes também se posicionam sob a luz dos holofotes, juntamente com as cidades que os abraçam. As manifestações populares e todos os discursos por elas veiculados ajudam na formação da identidade dos brincantes e, neste movimento, as cidades onde se desenvolvem as brincadeiras também vivenciam contínuos e diferenciados processos de elaborações identitária. O universo imagético presente nos folguedos é um elemento de visibilidade, alvo do assédio da Cultura de massa e da propaganda midiática. Os mascarados passam a ser reconhecidos como representantes da cultura dos lugares, no âmbito local e regional. A indústria cultural abarca as manifestações tradicionais gerando transformações. A festa pública muda os parâmetros da festa doméstica, pela presença de patrocinadores, da Cultura de massa, de novos códigos homogeinizadores. E, nesse processo dinâmico desenham-se as identidades dos municípios, que passam a ter atrelado ao nome a força de seus brincantes: Bezerros: Terra dos Papangus; Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros. Esses se tornam slogans publicitários. Em Bezerros detectei um marco a partir do qual houve uma mudança marcante na brincadeira dos mascarados, que passou a crescer e ampliar a visibilidade no âmbito regional. Em 1994 foi implantado nacionalmente o PNMT- Programa Nacional de Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
292
Municipalização do Turismo. Visava a conscientização, sensibilização e o estímulo para a descoberta e ampliação do potencial de cada lugar. O programa tinha por objetivo promover o desenvolvimento turístico sustentável em cada município, incentivando para que fosse reconhecido e despertado, em função de seus patrimônios históricos, ambientais e culturais: riquezas de cada região. Atrelando incentivo e gerenciamento de ações que orientavam os gestores locais e a população, fomentou a organização de oficinas para que fosse articulada uma formação geral sobre as questões que envolviam o turismo: orientação para uso de mão de obra local; produção e artesanato com matéria prima da região; preparo para a recepção dos visitantes. Em Bezerros, o Prefeito Lucas Cardoso apostou nessa ideia e na possibilidade de inserir a brincadeira dos Papangus como catalisadora do desenvolvimento turístico do município. Foi agindo com intensidade que preparou Bezerros para o novo século que se iniciava, inserindo o município no Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), priorizou o carnaval e tornou a folia do papangu uma das festas mais populares do Brasil, reconhecida até no exterior. (SOUTO MAIOR, 2010, p.340).
Segundo o historiador, a gestão do prefeito Lucas Cardoso, ocorreu em três mandatos, de 1989 a 2001. Foi um período de redenção desenvolvimentista para o município. O prefeito incentivou o reconhecimento dos Papangus como patrimônio local; intensificou o turismo ecológico no distrito de Serra Negra; criou a Estação de Cultura; atraiu empresários para a instalação de hotéis na cidade. “Ele tudo visualizava em cima da cultura e tudo o que fazia dava certo” (mestre Lula Vassoureiro). O folguedo dos Papangus deixou de ser uma brincadeira de rua, adentrando no processo de inserção do município na corrida para o desenvolvimento turístico. A promoção dos mascarados foi incentivada e administrada em várias instâncias municipais e estaduais, envolvendo os gestores das secretarias de Cultura e Turismo. Nas escolas também houve o incentivo para que crianças e Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
293
adolescentes reconhecessem a importância dos mascarados de Bezerros, inserindo no currículo a disciplina turismo Dentro da matéria turismo os professores ensinavam a nossa cultura, passavam para ele a importância do Papangu, da máscara, então o resultado foi muito bom. Eu acho que quando a gente consegue atingir a criança, o jovem, o resultado é maior, é melhor. (Robeval Lima).
[1] Diretora executiva do Governo, 40 anos.
Como avaliam os moradores e gestores “o Prefeito Lucas teve uma visão político-administrativa” (Ana Maria da Silva1). Pelas sementes plantadas em sua gestão a Folia dos Papangus tomou corpo e voz. Hoje a festa dos mascarados é gigantesca e a cidade conta com a visitação de cerca de 500 mil turistas no período do Carnaval. Visitantes vindos da Capital e de muitos lugares do país se encantam com a brincadeira e passam a colocar o Carnaval de Bezerros como rota obrigatória no período momesco (Fig.01). Acredito que a proximidade da Capital revela-se como catalizador nessa dinâmica marcada por elementos envolvidos no âmbito da modernidade: a espetacularização, a cobertura midiática e o turismo. Inserida na agenda cultural do Estado, a festa dos mascarados revelou-se nacionalmente e internacionalmente, com a visitação cada vez maior de turistas estrangeiros. Paralelamente à amplitude da festa, a máscara do Papangu virou símbolo, pela necessidade de uma comunicação rápida e marcante exigida pela indústria do turismo e propaganda institucional. Durante esses anos que venho desenvolvendo a pesquisa sobre os mascarados carnavalescos observei o quanto a máscara, em função da sintetização de suas formas e complexidade de suas funções, transformou-se em símbolo de cada lugar. Usada nos panfletos institucionais, nos folders de hotéis e pousadas, na propaganda de sites, a máscara revela a cidade, a festa, o personagem, o Carnaval, a identidade dos lugares, através dos personagens da Cultura da Tradição. Apesar de Bezerros ter um leque de cultura, tem o artesanato da própria máscara, tem a Serra Negra, mas o principal mesmo que eu acho que caracteriza Bezerros é essa questão da terra do Papangu. Quem é que não conhece? (Marília Gabriela de Souza).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
294
É notório que a transformação da máscara em marca, logo, símbolo, é mais fortemente notada justamente nas cidades em que o processo de construção identitária, que associa o lugar ao folguedo, está mais arraigado. O Careta e o Papangu, símbolos identitários de Triunfo e Bezerros, são usados em todo tipo de propaganda local e regional, reiterando a ideia de que “o símbolo comporta uma relação de identidade com aquilo que simboliza” (MORIN, 2005a, p. 147). Nesses casos, para transformar-se em símbolo, houve uma minimização de formas, uma redução de grafismos, uma adequação de elementos, visando uma leitura rápida e precisa da informação desejada (Dig. 01). O símbolo tem muitas vezes um caráter e uma função comunitária, evoca as verdades construídas socialmente e que lhe dão vida. O símbolo concentra “[...] uma constelação de significados e representações aparentemente estranhas, mas ligadas simbolicamente por contiguidade, analogia, imbricação, englobamento” (MORIN, 2005a, p. 148). Essas características podem ser observadas nas máscaras usadas como símbolo da Cultura da Tradição de alguns municípios de Pernambuco. E assim “o símbolo revela-se como a melhor forma de comunicar os mistérios que a palavra, na sua linearidade, não consegue transmitir” (LUCAS, 1989, p. 79). Reitero que existe uma diferença marcante entre os níveis de reconhecimento da identidade edificada nos municípios de Bezerros e Afogados da Ingazeira, tendo os Papangus e Tabaqueiros como elementos de visibilidade. Os mascarados afogadenses ainda possuem um reconhecimento muito restrito dentro do município e no âmbito estadual. Quando os portais de notícia começam a divulgar as cidades do interior que mantém as tradições do Carnaval pernambucano lembram sempre de, Papangus de Bezerros, Caretas de Triunfo, Maracatus de Nazaré da Mata, Caiporas de Pesqueira, Bichos de Vitória Santo Antão. Tudo bem são mais que merecedores! Mas e Afogados da Ingazeira com suas riquezas e personagens carnavalescos como, Genésio e sua burrinha, o boi de Hermes, as virgens, os Tabaqueiros, grupos de frevo, blocos, orquestra de frevo, entre outras manifestações que encontramos no próprio folião de rua? (mestre Beijamim Almeida).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
295
O mestre Beijamim preocupa-se com o reconhecimento dos valores de sua terra, dentre eles os Tabaqueiros. Realmente a propaganda do governo do Estado tem veiculado nesses últimos anos mensagens que enaltecem a riqueza da diversidade existente nos municípios pernambucanos. “Carnaval de Pernambuco: um Carnaval que Vale por Muitos” ou “Carnaval 2013: um Estado de Alegria” foram slogans que propagaram a festa. Além do conhecido Carnaval da Capital e de Olinda, entram na agenda cultural do Estado como pólos de animação as cidades de Águas Belas, Arcoverde, Belém de São Francisco, Bezerros, Catende, Goiana, Ipojuca, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré da Mata, Paudalho, Pesqueira, Petrolina, Surubim, Tamandaré, Timbaúba, Triunfo e Vitória de Santo Antão. Acredito que ainda é muito restrito esse universo, se observarmos a diversidade e dimensão dos folguedos existentes em todo o Estado. Profissionais que participam ou dialogam com instâncias institucionais no âmbito a gestão pública reiteraram que a questão cultural gira muitas vezes em torno de seleções e escolhas, fruto de elementos político-partidários. Esse processo termina gerando visibilidades ou invisibilidades em relação às brincadeiras. Muitas vezes políticas personificadas também são determinantes nas instâncias organizativas ligadas ao poder público e a cultura sofre com isso. Gestores assinalaram, contudo, que está existindo, por parte do Estado, um movimento na tentativa de interiorização da política cultural através do Festival Pernambuco Nação Cultural e formação de fóruns regionais nas RD-Regiões de Desenvolvimento, com organização de comissões setoriais por linguagens culturais. A partir de 2012 houve o lançamento do edital regionalizado do Fundo de Incentivo à cultura - FUNCULTURA, para atender demandas das [2] Doutorando em Antropologia, Eduardo foi Gerente Operacional na Casa do Carnaval e Coordenador de Patrimônio Imaterial na FUNDARPE.
classes produtoras, artísticas e gestoras, visando atingir as 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado (Eduardo Sarmento2) Em relação a Afogados da Ingazeira, a figura do Tabaqueiro ainda não se constituiu em marca forte e presente, aplicada nas diversas mídias que fazem a comunicação da festa carnavalesca e isso Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
296
certamente repercute no âmbito estadual. A cidade ainda não utiliza, de maneira contundente, a imagem do mascarado como símbolo para propaganda turística, comercial ou institucional, embora reconheça a importância do folguedo para a identidade do município Existe um orgulho muito grande dos moradores que percebem o valor dos mascarados para a tradição local, porém no âmbito institucional, a cidade agora é que inicia um processo de uso da imagem do mascarado como representante de sua cultura. Como prova disso constatei, pela primeira vez, o destaque do nome Tabaqueiros nos panfletos da Prefeitura, no Carnaval de 2012. Embora o Concurso dos mascarados já fizesse parte da programação municipal, passou a constar naquele ano, na propaganda da Secretaria de Cultura o slogan “Aqui a gente faz a melhor folia dos Tabaqueiros”. No ano de 2013 novamente a referência aos mascarados, já com uma relevância maior“Carnaval Afogados da Ingazeira: Tradição dos Tabaqueiros”. Nesse ano o Tabaqueiro teve também destaque como homenageado e as máscaras apareceram na decoração da cidade. Assim o símbolo ganhou lugar e importância, acionando a força identitária do folguedo no município sertanejo (ANEXO 01). 6.2.1 Concurso: o Desfile da Vaidade. No processo de afirmação e ampliação da identidade pautada na figura dos mascarados, e na perspectiva da inserção da festa carnavalesca no movimento da espetacularização, os Concursos municipais são realmente elementos de suma importância, que merecem destaque e atenção. A vaidade dos brincantes é acirrada na hora do desfile e da competição. Detectei que na história das brincadeiras os Concursos, algumas vezes, foram estrategicamente organizados pelos próprios brincantes ou pelos órgãos responsáveis pela Cultura e Turismo, como forma de manter, reviver ou ampliar os folguedos. Isso significou uma passagem da brincadeira mais livre de rua para uma preocupação com o desfile nos palcos, com o julgamento de itens demarcados por
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
297
jurados
convidados
para
avaliar
os
mascarados.
Houve
consequentemente, uma interferência na estética, a partir de critérios a serem pontuados pelo júri. Na realidade atual, os Concursos direcionados pelas prefeituras são marcados por uma forte comunicação entre mascarados, moradores e turistas. Realçados pelo brilho, pelas cores, pela beleza dos brincantes fantasiados, eles acontecem em locais públicos determinados: cenários dos eventos. Os jurados avaliam, no caso específico de cada cidade, as fantasias, as máscaras, a destreza com os relhos, a gestualidade dos brincantes, as mensagens trazidas nas tabuletas, os adereços, a criatividade, o luxo e originalidade. Todos esses elementos passam também a ser significativos para a medida do desempenho dos brincantes, frente à identidade assumida: representante da Cultura do município. Como formas de expressão, indexadores na comunicação, apresentam-se tal qual emblemas que chamam a atenção, maravilham e encantam (Dig. 02). E assim, o espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como sentido privilegiado da pessoa humana - o que em outras épocas fora o tato [...]. (DEBORD, 1997, p. 18).
Para aqueles que se preparam para os Concursos a brincadeira não se restringe a circular nas ruas, entrar nas casas, conviver prazerosamente com parentes e amigos. O desempenho do brincante é medido por critérios de avaliação predefinidos pelo poder institucional municipal, gestor do evento. Os Concursos me fizeram refletir sobre a forma como os brincantes criam seus discursos performáticos. Os corpos encobertos pelas fantasias acetinadas, as máscaras e adereços que constituem personagens, os textos escritos que veiculam mensagens, a gestualidade vivida de forma plena, tudo isso interfere no desempenho dos mascarados e na sua relação com os espectadores. O público presente usufrui diretamente dessa linguagem, emociona-se e demonstra sua empatia através de calorosos aplausos e insistentes registros fotográficos. Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
298
A audiência de distantes lugares passa a ser espectador, assistindo a transmissão elaborada pelos atentos profissionais das emissoras de comunicação em massa, que reportam detalhadamente cada parte do evento. E assim as identidades construídas criam uma dimensão que ultrapassa a abrangência local, atingindo, sem limites espaciais e temporais, o mundo. Tudo isso instrumentaliza e amplia a materialização das identidades: individual, coletiva e dos lugares. Nesse processo a vaidade é marcante, e me faz compartilhar com a ideia de que a vaidade é a pele da alma, envolvendo as emoções e as paixões (NIETZSCHE, 2006). Em Bezerros o Concurso na categoria adulta possui três modalidades: individual, dupla e grupos, sendo julgada a categoria [3] A categoria tradicional guarda características da brincadeira em sua forma mais simples- a criatividade rege o trabalho de elaboração. Na estilizada há uma presença mais requintada das máscaras e fantasias.o luxo e a exuberância marcam a criação.
tradicional ou estilizada3. O evento acontece no domingo de Carnaval, dia do desfile do Bloco dos Papangus, organizado pela secretaria de Cultura e Turismo, a partir da temática de cada Carnaval (Dig. 03). O palanque sobre o qual desfilam os Papangus é montado, estrategicamente ao lado da Prefeitura, na Praça Duque de Caxias, permitindo que o público e as autoridades acompanhem o evento: momento áureo da folia dos mascarados. Existe também o Concurso infantil, crianças de hum a sete anos e infanto-juvenil, de oito a quatorze anos, que acontece na segunda-feira de Carnaval, no mesmo local. Seguindo as instruções normativas do Concurso dos Papangus, a comissão julgadora utiliza como critérios para definir a premiação a irreverência, a originalidade, a criatividade, os adereços e as fantasias. Um ponto
[4] No ano de 2010 o tema foi Carnaval de Bezerros: Cultura, Cores e Tradições. Em 2011, Do Frevo ao Samba, os Papangus Fazem o Melhor Carnaval. Em 2012, História e Tradição com os Papangus é só Emoção. Em 2013, A Magia dos Papangus.
importante é a integração e harmonia com a temática do Carnaval, definido a cada ano4. Segundo as normas, os participantes fazem suas inscrições e dão nomes às fantasias, recebendo um adesivo com numeração que os identifica. Devem acompanhar o Bloco dos Papangus, mantendo-se mascarados até o término do evento, que tem início às 10h do domingo de Carnaval. No momento do desfile dos mascarados Bezerros ficava com as ruas superlotadas. Os brincantes assinalaram a emoção sentida pela visão que têm da multidão pelos pequenos orifícios das máscaras. Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
299
Na hora de desfilar é aquele montão de gente observando a gente. É hora realmente que todos conhecem a fantasia porque é lotado aquela frente ali. Já que eu faço, eu gosto de apresentar no Concurso, por que tem a questão dos jornalistas, a mídia tá presente e a população. Todos têm a oportunidade de ver a fantasia. (Marília Gabriela de Souza).
A ampliação da visibilidade da festa e do evento na última década certamente interferiu no aparecimento de máscaras e fantasias cada vez mais elaboradas, distante da estética Papangus que originaram o folguedo. Perguntei aos moradores e brincantes se todo o assédio que cercava a brincadeira não descaracterizava o folguedo. As opiniões variaram muito. Alguns destacavam a necessidade de retornar a uma brincadeira mais simples, na qual o povo brincava sem a preocupação com a beleza, luxo, exuberância ou outros requisitos para o Concurso, bem como o desejo de aparecer, ser visto e fotografado. O Papangu de verdade acabou. Hoje é um desfile de máscaras granfinas. Papangu não é isso. O nome mesmo tá dizendo: Papangu é brincadeira, é irreverência. É você brincar com seu anonimato, você entrar nas casas alheias. o pessoal, mesmo sendo um desconhecido, desfigurado, feioso, ele adere, né? Te acolhe. E hoje não é mais isso. É um corredor de desfile de fantasia. Fantasias granfinas. Fantasias que não têm nada a ver com o Papangu. Esse é meu ponto de vista. (Erivan Feitosa).
Outros, mesmo saudosos, reconheciam a necessidade de mudanças, seguindo um movimento irremediável da tradição. Aquela época era o Papangu. Voce saía todo rasgado, né? Pegava aquelas meias que a gente usava mesmo. Pegava aquelas meias para colocar nas mãos. E saía todo malamanhado. Aquilo ali era o Papangu! Mas hoje em dia a gente vê, nos carnavais de Bezerros, eu não considero as máscaras como que sejam do Papangu mesmo. Porque... eu não vou dizer que a gente deve permanecer o tempo antigo, porque cada época a gente tem que dar uma reformada, né? Mas naquela época fazia gosto a gente ver as máscaras do Papangu mesmo. (Zé Pedro).
Em Bezerros o movimento da tradição seguia a flecha do tempo, marcado pelas mudanças e permanências. Cada vez mais o espetáculo se ampliava. Em Afogados da Ingazeira o Concurso acontece na Praça de Alimentação, no centro da cidade, na noite de segunda-feira de Carnaval. Ali os moradores prestigiavam a iniciativa institucional, Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
300
aplaudindo os Tabaqueiros de diversas idades, que, vaidosos, se exibiam para a pequena multidão que se aglomerava em frente ao palco. (Fig. 02). O Concurso no Carnaval de 2011 na cidade sertaneja foi muito significativo para que eu observasse a dinâmica do evento e a dimensão e importância daquele momento vivido coletivamente. A cidade estava reunida à espera do desfile dos mascarados. Certamente aquele era um marco importante no calendário festivo. Muitos comiam e bebiam aguardando a apresentação dos Tabaqueiros que circulavam ansiosos pela chegada da hora do desfile. Sob o palco, as inscrições eram feitas por um funcionário da Prefeitura e sobre a mesa os troféus para premiação dos vencedores (Fig. 03). Com o júri a postos, a voz grave do locutor iniciou a chamada dos participantes. Enquanto desfilavam sob os olhos atentos dos assistentes que se manifestavam com gritos e aplausos, um grupo barulhento exibia suas fantasias e máscaras emborrachadas: alguns, seguindo a tradição do anonimato; outros, colocando as máscaras fora da face, deixavam-se exibir sem constrangimento. Tratava-se de adolescentes, ansiosos pela competição. O horror estava presente, nas máscaras, nos adereços e fantasias: próximo a mim militares galácticos, saídos de histórias de cinema, com suas elaboradas armas de brinquedo (Dig. 04). O mestre Beijamim e sua filha esperavam, pacientemente, o início do Concurso, com suas máscaras artesanais, bem diferentes da [5] O Casal 20 foi vencedor nesse ano. Os brincantes Arlindo Miguel e José Damião eram pedreiros e confeccionavam suas máscaras.
maioria dos brincantes. Outro destaque era o Casal 205, com máscaras que chamavam a atenção pela abundância de materiais e criatividade. Logo começaram as chamadas. A grande maioria desfilou individualmente. Cada um exibia-se da melhor forma, tentando conquistrar os jurados e o público, que aplaudia. Finalmente a esperada premiação. Em terceiro lugar um Tabaqueiro com máscara industrializada; em segundo lugar o mestre Beijamim; em primeiro, o Casal 20. O resultado mostrava que as máscaras industrializadas ainda tinham uma boa receptividade, mesmo existindo uma luta pelo resgate Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
301
do uso das máscaras artesanais. Esse era um propósito perseguido pelo mestre Beijamim há muitos anos e ampliado através das oficinas por ele dirigidas, com o apoio institucional. Assinalando seu desejo de manter essa tradição me disse em uma das nossas conversas, com um tom de desabafo: “quando eu tiver 30 mascarados desfilando com máscara artesanal, eu deixo de participar do Concurso”. Para ele o evento representava não apenas um momento para exibir-se como brincante e artesão-artista, mas uma oportunidade de trazer para a cena o debate sobre o movimento da tradição: permanências e mudanças construídas na linha espiralada do tempo. Observando o processo de espetacularização em Bezerros e Afogados da Ingazeira entendi que, embora exista uma diferença visível na dimensão das festas carnavalescas nas duas cidades e, dentro delas, dos Concursos municipais, a vaidade continua a ser um elemento de suma importância para os mascarados. As máscaras viabilizam o mostrar-se, o exibir-se, o fazer-se ver e tornam-se o elo entre os brincantes e a audiência. Quantitativamente, essa relação é gigantesca no caso de Bezerros e relativamente pequena no caso de Afogados da Ingazeira, porém, em ambos os municípios, seladas pelas teias do prazer. 6.2.2 Papangus: de Bezerros para o Mundo Lembro que naquele ano de 2011 o Carnaval aconteceu no início de março e resolvi sentir o clima dos preparativos em Bezerros, no final de janeiro. Decidi visitar primeiramente os órgãos institucionais municipais para conversar com os gestores. Como pude comprovar na pesquisa desenvolvida em Triunfo, é muito importante a identidade múltipla vivenciada por muitos dos funcionários dos órgãos municipais. Eles ocupam cargos decisivos nas secretarias ligadas à Cultura e Turismo e são também brincantes atuantes, preocupados em manter a tradição dos folguedos. Posso dizer que muitos deles ocupam posição de destaque na hierarquia dos meios sociais e culturais locais, lugares de prestígio, servindo como mentores para o movimento de manutenção e também transformação das
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
302
brincadeiras. Em Bezerros encontrei - na Secretaria de Turismo, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Esportes, na Prefeitura, no Espaço Papangu existente na Estação da Cultura e no Polo Cultural de Serra Negra - diversos brincantes-administradores ligados aos preparativos do Carnaval 2011 no município e da atuação dos Papangus no Carnaval do Rio de Janeiro. Naquele ano a Prefeitura recebeu o convite para participar no desfile da Escola de Samba Império da Tijuca, que fazia parte do grupo de acesso do Carnaval carioca. O enredo da Escola - o Mundo em Carnaval: um Olhar Sobre a Cultura dos Povos- traria diferentes festas celebradas nos diversos continentes no período momesco. Dos [6] Realmente era
cinco carros alegóricos, um apresentaria as folias brasileiras, tendo
marcante a participação de Robeval Lima no âmbito cultural bezerrense. Foi secretário de turismo e cultura e também respondeu pela pasta de educação. Afirmava ser brincante desde os 15 anos de idade. Renomado artista plástico já contava com cerca de 20 premiações no Concurso dos Papangus.
como destaque os emblemáticos Papangus de Bezerros.
[7] Claudenize Santos era curadoura, artesãartistaresponsável pela organização da decoração da cidade nos diversos períodos festivos do ano. Ela gerenciava uma equipe de artesãos e costureiras para a execução dos trabalhos do Carnaval.
estandartes idealizados por Robeval Lima6 e confeccionadas por
[8] Walter Benjamin (1994) observa que o trabalho artesanal possui um ritmo lento e orgânico. O tempo no qual se inscreve é um tempo mais global, um tempo de contar e assim os movimentos constantes e precisos do artesão têm uma relação profunda com a atividade narradora.
costureiras e artesãos executando os estandartes. Aproveitei para
Após visitar a cidade e reunir-se com diversos artesãos-artistas locais, o carnavalesco carioca Severo Luzardo ficou bastante impressionado
com
o
trabalho
de
Murilo
Albuquerque
responsabilizando-o pela confecção das máscaras que seriam usadas para compor um carro alegórico e uma ala com 120 Papangus. Murilo falou emocionado das 30 máscaras gigantes, com 1,5m de altura, confeccionadas para o carro alegórico e das fantasias e Claudenize Santos7 (Dig. 05). Tratáva-se de uma oportunidade de seguir os rastros das associações de humanos e não humanos - brincantes, moradores, gestores, máscaras, fantasias e adereços - coletivo que se formara, respondendo às necessidades daquele maravilhoso convite. Na visita à Secretaria de Turismo e Cultura pude presenciar a equipe de conversar sobre a brincadeira, atiçando a memória do grupo, enquanto, sem interrupção, o trabalho artesanal era executado8. Neste contexto, o trabalho manual alia-se ao trabalho de lembrar e de contar. (COSTA, 2009b). Era muito grande o orgulho de todos e a ansiedade pela possibilidade de transpor o âmbito local para o nível nacional através Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
303
da propaganda midiática. Ser visto pelo público presente no desfile e pelos espectadores de outros estados era realmente esplendoroso: uma massagem no ego, um fermento para a vaidade. Nesse processo de troca que começaria na própria avenida onde aconteceria o desfile, “captar o olhar do outro é uma estratégia de visibilidade essencial para o estabelecimento de uma relação interativa, a fim de se obter reconhecimento como sujeito de um sistema de relações e práticas sociais” (SÁ; CONTIJO, 2010, p.27). Naquele momento que antecedia o Carnaval havia uma grande expectativa em relação ao resultado do desfile e uma esperança que a Império da Tijuca voltasse a ficar entre as escolas do grupo de elite do Rio de Janeiro. Havia um excesso de atenção, pois a cultura bezerrense apareceria para o mundo, o que enaltecia a ideia de que “o excesso sobrevém como uma vibração que legitima e dá sentido à monotonia cotidiana” (MAFFESOLI, 2003, p. 87). O desfile aconteceu com todo o brilho e pompa. Embora tenha ficado em sétimo lugar, a Escola Império da Tijuca ganhou o Estandarte de Ouro de melhor Escola do grupo de acesso do Rio de Janeiro - considerado um dos prêmios mais importantes do Carnaval carioca, uma iniciativa do jornal o Globo. Essa certamente foi uma vitória também para Bezerros e seus vaidosos mascarados. Ah! Foi muito bom! A emoção foi indescritível, né? Eu estava em cima de um carro alegórico que eu tinha confeccionado juntamente com Murilo, a gente confeccionou aquele carro alegórico todo, muito bonito e na frente a ala de Papangus que eu tinha criado as fantasias, 100 Papangus. A gente olhava assim... Meu Deus eu não acredito que uma coisa que eu criei. Bezerros tá aqui, né? No Rio de Janeiro. Sendo televisionado, para o mundo inteiro... na Sapucaí e a gente sendo ovacionado o tempo todo, os Papangus de Bezerros. (Robeval Lima).
6.2.3 Brincadeira de Homem: Toque de Mulher A leitura corporal é feita de modo distinto entre homem e mulher [...]. Na verdade, em sua forma, estrutura, estilo, comportamento, a beleza de uma mulher assume diferentes maneiras de ser manifestada, legitimada, lida, entendida, usada e articulada. (SÁ; CONTIJO, 2010, p.24).
A vaidade permeia os labirintos da existência humana, Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
304
independente do gênero. Tanto os homens, quanto as mulheres satisfazem-se com a possibilidade de fazer-se ver e nessa relação de troca existe o espelho, que é o olho do outro, cuja imagem repletida causa efeitos: admiração, palavras de elogio, interjeições que provocam o envaidecimento. Existem também outros espelhos, nos quais homens e mulheres vêem a si mesmo e, como Narciso, apaixonam-se pela sua própria imagem refletida. (Dig. 07). Na história distante das brincadeiras dos mascarados a Beleza do Feio despertava o sentimento de medo, de incômodo e também de prazer. Os depoimentos apontam que nesse tempo, um século atrás, as brincadeiras eram predominantemente masculinas. Não! Era homem. Eram lanças, você molhava as pessoas com lança, lança de plástico e bomba. Tinham as bombinhas de cano. Era para sair na rua com uma lança na mão molhando o outro. Era piche, aquelas tintas preta, talco, né? Era um Carnaval assim... era o melamela. E os Tabaqueiros participavam mas era menos. Era assim eles surgiam e desapareciam. Era muito interessante e mulher não participava, né? Naquele tempo. (Edvânia Alves). Não me lembro assim, que eu vi alguma vez na minha vida uma mulher fantasiada de Papangu. Sempre vi homem. Era sempre aquele vozeirão [muda a voz], dizendo que era um homem, né? E que pedia dinheiro. (Maria Lúcia Nogueira).
Os moradores de Bezerros e Afogados da Ingazeira falaram incansavelmente da emoção sentida com a aproximação dos mascarados. Acredito que os brincantes sentiam uma espécie de prazer com o medo que provocavam, pois, no momento em que percorriam as ruas com seus chicotes em punho e suas máscaras horrendas, tinha o poder de provocar reações, de perturbar a ordem cotidiana, a partir da desordem carnavalesca. Essa possibilidade envaidecia-os, pois era uma prova de poder. Com o passar dos anos a brincadeira masculina despertou o interesse das mulheres. A máscara viabilizava o anonimato e as brincantes aderiram à pândega, despistando a curiosidade dos parentes e amigos, que pensavam tratar-se de figuras masculinas. As brincantes colocavam enchimentos sob as roupas velhas, parecendo obesas, disfarçando assim a silhueta feminina. Envaideciam-se dessa astúcia, Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
305
aproveitando-se da liberdade festiva. A mais importante inversão é a dos papéis femininos e masculinos, que tem como característica ridicularizar ou suprimir a sociedade masculina durante o tempo de sua realização. As mulheres ocupam a cena social, todas se portam ao avesso das regras que regem seu comportamento comum, algumas dentre elas fazem o papel dos homens encampando signos e símbolos da masculinidade e da virilidade. (BALANDIER, 1997, p. 133).
O autor assinala que as mulheres, ao viabilizarem a inversão de papéis e a desordem cerimonial, afastam-se de um certo confinamento dos espaços privados e marcam sua presença no âmbito social, igualando-se ou até suplantando os homens. Nesse sentido, muito mais importante que dominar o relho para participar do duelo ou exibir-se com uma bela fantasia nas ruas das cidades era poder desfrutar do prazer compartilhado da brincadeira de velar a própria identidade, como feios brincantes irreconhecíveis. Não, não [reconhece]. Até mesmo porque muitas vezes voce não sabe quem é quem. Às vezes a mulher se veste de homem e o homem se veste de mulher e ninguém sabe quem é quem. Fica diferenciado, né? Eu acho que é por aí que a coisa funciona. Porque você fica naquela dúvida: “quem é? senhor Pedro? Se vestido de mulher com a máscara? Ninguém vai saber que é senhor Pedro, né? É essa coisa de esconder a pessoa. É. (Cícera dos Santos).
Na pândega dos mascarados a Beleza do Belo também toma conta das ruas e, nesse contexto, as mulheres partem em busca de uma outra estética, perseguida com afinco. “Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu???” Esta passa a ser uma pergunta ouvida nos dias de Carnaval. Tanto o mestre Lula Vassoureiro, quanto o meste Beijamim, assinalaram esse movimento das brincadeiras dos Papangus de Bezerros e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira, destacando a importância de apoiar a inserção feminina nos folguedos. As mulheres também que... as moças gostam muito dessa brincadeira. Que fica uma fantasia muito bonita e sair na casa das amigas e nós saímos da casa dos amigos, comendo, bebendo. (mestre Lula Vassoureiro).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
306
A brincadeira é mais em grupo. Geralmente é o pessoal dos bairros que organiza. Aqui eu pego mais a molecada. Eu gosto mais da meninada, das mulheres. Muita gente acha que é coisa só de homem [...] (mestre Beijamim).
Ao desenvolver a pesquisa dos Caretas de Triunfo eu fiquei ciente da relevância da participação feminina para a vida, preservação e mudanças dos folguedos dos mascarados. O aprofundamento do estudo a partir dos Papangus e Tabaqueiros serviu para comprovar que, com a entrada das mulheres vão se inserindo novos significados e valores ao ritual das brincadeiras. Com isso o cosmo da vaidade também é atingido: a vaidade feminina é um solo culturalmente cuidado e cultuado. Nas ruas de Bezerros a Beleza do Belo ampliou-se pela inserção das mulheres. “A brincadeira foi evoluindo e com o passar dos tempos as mulheres também entraram na brincadeira. A brincadeira ficou uma brincadeira democrática” (Suely Aparecida). O cuidado com a temática, a riqueza das fantasias, o detalhamento das máscaras, tudo forma um conjunto de glamour e sedução. A Beleza do Feio toma pinceladas de criatividade quando as brincantes femininas desfilam anonimamente pelas ruas da cidade. Em Afogados da Ingazeira as meninas treinam com os chicotes e acompanham
os
grupos
de
Tabaqueiros,
predominantemente
masculinos. Hoje já existem grupos de Tabaqueiras. (Fig. 04). Tem grupo só de mulheres. Só de mulheres. É incrível. Você ver um monte de mulher se mobilizando e dizer assim “Vou sair de Tabaqueiro”. No início da brincadeira não saíam. Só homens e não tinham crianças. Raramente você via uma criança de Tabaqueiro. Saíam correndo quando viam um Tabaqueiro mais velho, com medo. Eu acredito que não tem 10 anos não, de ter mulher de Tabaqueiro. Mas as crianças mais. [...] Em 80 eu saía de Tabaqueiro. (mestre Beijamim).
Seguindo os itinerários do segredo muitos brincantes seguem as regras do anonimato, burlando sua verdadeira identidade. Como as mulheres, as crianças e anciãos marcam a pândega dos mascarados, trocando aprendizagens e experiências. E todos elaboram e reelaboram as trajetórias da vaidade (Dig. 07 e 08).
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
307
[Fig 01] A multidão invade Bezerros. (Acervo Julio Pontes)
[Fig.02] A população prestigia o Concurso dos Tabaqueiros. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
308
[Fig 03] Envaidecidos Murilo e Robeval vêem seu trabalho reconhecido. (Murilo Albuquerque).
[Fig 04] Sem máscara a Tabaqueira demonstra seu carinho. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 6- A Vaidade: Fazer-se ver
PARTE 04: LUA MINGUANTE
310
Considerada a deusa do mistério e da magia, Selene sabia de tudo o que acontecia no universo e tinha o poder de interromper a vida de qualquer deus. Conhecida como a deusa do oculto, ajudava os humanos a encontrar coisas perdidas (KURY). A Lua Minguante nasce à meia-noite e dorme ao meio-dia. Tem a forma de um semicírculo de luz. Num constante movimento os claros e escuros desenham a extensão da face lunar vista da Terra. Mudanças e permanências que envolvem a existência astral. Numa mesma dinâmica, os folguedos dos mascarados nascem e morrem; renascem e ampliam-se; renovam-se e se mantêm: é a tradição em constante transformação. Um prazer individual e coletivo envolve essas mudanças. Precisamos acompanhar o fluido social através de suas formas sempre provisórias e mutáveis. Observar os fluxos, as mudanças, o movimento do campo. A partir daí fazer um texto denso, narrando não informações, mas trans-formações, descrições e traduções. Registrar sem filtrar. Descrever, e não rotular. (LATOUR, 2012).
PARTE 04: Lua Minguante
311
7. O PRAZER: PODER DA IDENTIFICAÇÃO
Assim é que, além ou aquém do mundo da lei e do mundo das leis, podemos ver, em certos momentos, o jogo e os jogos, o prazer e os prazeres, a emoção e as emoções, retomarem um lugar de importância na estruturação social. (MAFFESOLI, 2003, p.78). Se não promover a festa hoje [...], simplesmente perderá o agrupamento, que não é um edifício à espera de restauração, mas um movimento que precisa continuar (LATOUR, 2012, p.63).
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
312
Existem muitas formas de sentir prazer. Afrodite, deusa do amor, da fertilidade e da beleza, espalhava o prazer através da sedução. Com os seios cobertos por conchas marinhas, transformou os frutos do mar em alimentos afrodisíacos. Teve muitas relações amorosas, dentre elas as paixões por Hermes, Poseidon e Dionísio. A pomba era sua ave favorita. As Musas, por sua vez, provocavam o prazer por onde passavam. Estavam sempre presentes nas grandes festas dos deuses, cantando, dançando com seus instrumentos musicais e adereços, deleitando os participantes. Eram representadas como jovens belas e modestas, inspiradoras de todas as manifestações da inteligência e da sensibilidade: Calíope, Musa da Poesia Épica; Érato, da Poesia Romântica; Clio, da História; Melpômene, da Tragédia; Polímnia, dos Hinos; Terpsícore, da Dança; Tália, da Comédia; Urânia, da Astronomia e Euterpe, da Música. Esta última era conhecida como a que dá prazer. Inventora da flauta tinha esse instrumento como atributo. Era também reconhecida como a deusa da poesia lírica. Sua irmã Terpsícore, espalhava o prazer através dos bailados. Acompanhada sempre por uma lira, essa deusa encantava pela destreza corporal, sendo também conhecida como mãe das sereias. Já as Ninfas, divindades da natureza, espalhavam prazer por serem mensageiras da alegria e da felicidade. Habitavam os bosques, os lagos, os campos e as montanhas, provocando admiração dos deuses do Olimpo (KURY, 2008). Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
313
7.1 Os Caminhos do Prazer Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. (DELEUSE; GUATTARI, 1992, p.216).
O homem vive no encalço do prazer. Esse é um sentimento que o acompanha desde o nascimento, entremeando as mais simples e corriqueiras ações. O prazer do alimento, do sexo, do sono. O prazer do conforto ambiental, do abrigo, da segurança. O prazer individual e coletivo: manifestações que, pela similaridade conjunta despertam um sentimento de ser semelhante. “E desse modo o instinto social surge do prazer” (NIETZSCHE, 2006, p. 97). Hoje não é a razão, tão pregnante na modernidade, que rege o indivíduo, mas os sentimentos, os humores, os afetos e as mais diversas dimensões não racionais do mundo. Forma-se, assim, um espírito coletivo, uma subjetividade de massas, uma interação globalizante: a ética da estética1. Nela está presente de uma espécie de [1] A ética da estética, segundo Maffessoli, pode ser definida como “[...] um laço social baseado em emoções comuns, sentimentos compartilhados, afetos postos em jogo na cena pública. Nesse sentido a imagem põe em curtocircuito a história ou o tempo finalizado do projeto. A imagem é a ordem do flash, da intuição imaginativa [...]”. (2003, p.68). Há uma participação com o mundo e com os outros, a partir da empatia, encontro e comunhão.
“orgia”, uma paixão compartilhada ou uma empatia social. Nessa troca importa-nos a existência do outro, meu próximo, e do Outro, o social. Assim, a vida, em relação, pode ser compreendida pela expressão de sentimentos de pertença, o reconhecimento de que fazemos parte de determinados grupos, participamos coletivamente de conjuntos que ajudam a construir nossa identidade. Ampliando essa idéia, Latour (2012) chama a atenção para ficarmos atentos à formação dos grupos, pois eles é que nos dão as pistas para entendermos melhor as nuances do social. Nessa perspectiva, passamos da certeza de determinar o que age e de que maneira age, para visualizar as coisas imprevisíveis. Muitos são os momentos que nos despertam sensações, nos trazem interesse, dão prazer. “Grandes concentrações, multidões de toda ordem, transes múltiplos, fusões esportivas, excitações musicais, efervescências religiosas ou culturais” (MAFFESOLI, 2003, p. 35). Daí tudo forma um convívio dinâmico. A medida da vida passa a ser a de viver sem medida, entregar-se a essa orgia coletiva, aos frenéticos dos sentidos, retornando aos preceitos de Dionísio, revivendo a serenidade do kairos grego e captando os múltiplos momentos da existência, Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
314
denominado por Maffesoli de “instantes eternos” (Dig. 01). O autor assinala de forma contundente o “reencantamento do mundo”: a procura por uma imobilização do tempo a partir da valorização do banal, do ordinário, de pequenos atos que caracterizam o cotidiano. É a marca de uma relação entre os indivíduos e com o mundo, feita da empatia, da participação e da comunhão. O prazer foi mais um tema recorrente na pesquisa dos mascarados. Esse sentimento acionou as lembranças daqueles que participaram e ainda vivenciam o movimento dos folguedos, suscitando emoção tanto nos brincantes, quanto nos assistentes. “O desejo assim de sair por prazer. Um entusiasmo, uma adrenalina... eu já fico assim... agoniada de que chegue o dia.” Foi o depoimento de Marília Gabriela de Souza, lembrando de seus sentimentos nos dias que antecedem os Carnavais de Bezerros, onde sai de Papangu e participa sempre do Concurso. Nos momentos que antecedem a folia, ela sente uma ansiedade que traz palpitações e dá prazer. (Fig. 01). Acredito que pensar na festa carnavalesca- preparativos para a realização dos folguedos; magia presente na confecção das máscaras; relações que se estabelecem nas ruas, praças, residências e palcos- em [2] Em O Nascimento da Tragédia, ou Helenismo e Pessimismo (1886), Nietzsche vê a Arte como “atividade verdadeiramente metafísica”, realidade que irá se transformar em Humano, demasiadamente humano (1886), quando a Arte pode ser compreendida como força ativa para dar sentido à existência, fora do âmbito da dor e da culpa. Assim a vida passa a ser regada pelo prazer e alegria. Não há necessidade, portanto, de buscar uma justificativa para se viver embasado na necessidade de redenção, legitimação, mas na intenção de se viver plenamente. A vida pode, finalmente, justificar-se por si só. (DELEUSE, 1976).
todas as atividades acionadas e mantidas pelo prazer de brincar é, certamente, pensar na força da identificação e da estética que cerca as brincadeiras. A partir daí é importante acionar o conceito nietzscheano2 sobre a “estética da existência”, que inspira e aprofunda a concepção de ética. Para Nietzsche a vida fica situada, então, num horizonte estético, cuja existência pode ser tida como um objeto de afirmação regado de abundância, alegria e deslocado do âmbito do penar e da culpa. O homem pode transformar-se num artista, capaz de inventarse a si mesmo e de desenhar a vida como objeto de Arte. Dando forma à existência: a arte deve antes de tudo embelezar a vida, portanto, tornar-nos a nós mesmos toleráveis aos outros e agradáveis, se possível; tendo esse objetivo em vista, a arte modera e nos mantém sob controle, cria formas nas relações, une aqueles cuja educação não é regida por leis de conveniência, de propriedade, de polidez, ensina-lhes a falar e a se calar no momento certo [...] (NIETZSCHE, 2007, p.81). Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
315
A Arte pode ser exemplo, tornando a existência humana com mais sentido; indicando caminhos a serem percorridos; ajudando o homem a livrar-se do enorme e doloroso fardo de uma vida insignificante, pela mudança de valores petrificados e, fazendo com que perceba realmente o que é significativo. Além disso, a arte deve esconder e transformar tudo o que é feio, as coisas penosas, espantosas e desgostosas que, apesar de todos os esforços, por causa das origens da natureza humana, aparecerão sempre sem falta à tona: desse modo deve proceder a arte, sobretudo no que se refere às paixões, às dores da alma e aos temores e fazer transparecer, na feiúra inevitável ou insuperável, o que há de significativo. (NIETZSCHE, 2007, p.81).
Essa concepção estética do filósofo atraca no porto da ética, pois seus preceitos rompem com uma existência pautada numa moral de castração, do medo, da negação e da contenção dos desejos humanos. Afirma isso quando diz: No fundo, não gosto de todas essas morais que dizem: “Não faças isso! Renuncia! Supera-te!” – Gosto, pelo contrário, de todas essas outras morais que me levam a fazer uma coisa, a refazê-la, a pensar nela de manhã à noite, a sonhar com ela durante a noite e a não pensar em outra coisa: fazer bem isso, tão bem como só eu sou capaz de fazer! (NIETZSCHE, 2008, p. 212).
Esse pensamento indica caminhos para que olhemos a vida inspirados na Arte e possamos dela retirar as melhores coisas: com otimismo, com alegria, com perseverança. Sei que a plenitude dessas ideias muitas vezes pode parecer utópica, quando em relação a uma realização total da vida. Mas por que não pensar nos possíveis momentos onde esses ensinamentos podem ser concretizados? Como assinala Maffesoli, os instantes eternos estão presentes em nossa existência. Creio que o momento de festa deva ser visto como esse instante regado pela plenitude desejada por Nietzsche. Vou chamá-lo de retalho de vida, no qual a Arte dita normas e a vida é concebida na perspectiva de uma realização artística, estética. Seguindo esse fio condutor, há, no tempo da festa carnavalesca, uma afirmação da vida através da Arte: uma labuta que exige esforço, dedicação, insistência, mas que permite o prazer da realização. Esse tempo não corresponde apenas aos quatro dias do Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
316
reinado de Momo. Ele engloba todo o período no qual os brincantes imaginam e idealizam suas máscaras e fantasias; artesãos-artistas manipulam os materiais produzindo diferentes novas-faces; gestores organizam-se para vestir a cidade com a temática escolhida; turistas programam suas viagens, ansiosos por participarem das folias dos mascarados; moradores preparam-se para acolher parentes e amigos em suas casas; enfim todos idealizam e viabilizam o Carnaval e o prazer nele contido. E é nesse sentido que visualizo a Arte das máscaras, a Arte das brincadeiras, a Arte que envolve a Cultura da Tradição: uma vida plena que cerca o Carnaval. Nesse tempo de preparação e realização existe um movimento que identifica e dá sentido à vida 7.1.1 Identificação e Sentido: Satisfação Coletiva.
[3] Tradução: é algo, que nem é o ator entre muitos nem uma força por trás dos atores, mas uma conexão que transporta transformações. A rede é traçada pelas traduções. Nos termos de Latour, tradução [...] “é uma relação que não transporta causalidade, mas induz dois mediadores à coesistência”. ( 2012, p. 160) .As traduções entre mediadores podem gerar associações que podem ser rastreadas e melhor observadas . [4] Em linhas mais gerais A identificação é um conceito que tem sua origem na psicanálise. Este é um elemento central na fase edipiana da criança, quando se percebe como sujeito assexuado. Pela identificação tomamos consciência de nossa
Aprende-se da história que a linhagem de um povo que melhor se conserva é aquela em que a maioria dos homens tem um vivo sentimento comum, em decorrência da identidade de seus princípios fundamentais costumeiros e indiscutíveis, em conseqüência, portanto de sua fé comum. (NIETZSCHE, 2006, p. 189).
Ficar atenta aos fios que teciam a teia do prazer individual e coletivo dos folguedos dos Papangus e Tabaqueiros me levaram a reconhecer a importância da identificação e do sentido suscitado pelas tramas que desenhavam as brincadeiras carnavalescas. Os incontáveis entrelaçamentos entre humanos e não- humanos me fizeram visualizar as associações que formavam o coletivo construído em torno da preparação e execução dos folguedos. Nessa dinâmica, observei as redes traçadas pelas traduções3 entre os mediadores, que podiam gerar associações rastreáveis. Maffesoli destaca que a lógica da identificação4 parte “[...] desses casos de experiência que, antes de todo o conceito preestabelecido, constatam que o „eu‟ é feito pelo outro, em todas as modulações que se pode dar a essa alteridade” (1996, p. 305). Compreende que esse outro pode ser representado por Deus, pela família, pela tribo, pelos grupos de amigos, pelas diversas comunidades nas quais estamos Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
317
similaridade e diferença ou separação em relação aos outros. Nos Estudos Culturais, principalmente no universo da teoria do cinema o conceito de identificação tenta explicar a intensa ativação de desejos inconscientes despertados por imagens ou personagens. (WOODWARD, 2009).
inseridos: trata-se de um processo relacional por excelência, que pode ser visto na multiplicidade de interferências que estabelece com o mundo circundante. Esse mundo pode ser o dos indivíduos ou das situações ou ocorrências onde se processam as relações. “[...] O que merece ser notado é que o sujeito é um “efeito de composição”, daí seu aspecto compósito e complexo” (MAFFESOLI, 1996, p. 305). A partir desse conceito o autor reconhece o papel da paixão e da emoção: os afetos instáveis e versáteis que dependem de lugares, situações, ambientes específicos constroem um jogo das aparências. E aí usufruir na totalidade dos prazeres deste “mundo-aqui”, o hoje e o agora, pois a vida merece ser vivida: reconhecer o valor do gozo dos prazeres compartilhados. Em minha opinião, o Carnaval traz a voracidade festiva, o culto ao corpo e a exacerbação da aparência observada pelo autor como formas de celebrar o “instante eterno.” Aí, na festa, retalho de vida, um mundo sensível se estabelece, rompendo o curso da flecha do tempo. Inventa-se um tipo especial de convivência, articulando-se o desejo do encontro com o outro e de encontrar outros em si mesmo, através da máscara. Esta faz o elo natureza-cultura. Trata-se, certamente, da natureza circundante, mas também da natureza que está em nós: corpo individual e societal, constituídos de emoções, de afetos, de subjetividades, de humores, cuja interação e correspondência são das mais fecundas. (MAFFESOLI, 2003, p. 142).
Da mesma forma que a identificação, a busca de sentido pode acionar elementos que nos fazem pensar na dinâmica carnavalesca e na pândega dos mascarados. O pluralismo presente na modernidade é apontado pelos autores Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) como um elemento de desestabilização, atingindo as ordens de sentido e de valor que orientam ações humanas e embasam a identidade. Para esses autores não ocorre, contudo, uma crise geral de sentido no domínio do social, porque são montadas estratégias para minimizar o problema pelo desenvolvimento de instituições. “Estas instituições atuam como geradoras e sustentadoras de sentido na conduta de vida Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
318
dos indivíduos e na coesão de comunidades de vida” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 74). Diversas instituições tiveram e continuam tendo importância vital na vida humana. A Igreja, por exemplo, pode ser apontada como uma delas: formadora de sentido, percebida como uma comunidade em torno da qual se ampliam experiências individuais e coletivas de produção e comunicação de valores. Outras instituições de cunho terapêutico são desenvolvidas com o mesmo objetivo. Quando os tempos difíceis e ameaçadores podem propiciar as crises de sentido, em momentos onde a mobilidade geográfica e social enfraquece as [5] Gilbert Durand (2001) nos faz viajar sobre as águas do imaginário e utilizando-se de uma bela metáfora o autor percorre a conceituação de Bacia Semântica. Correntes descoordenadas, oriundas do setor marginalizado podem atingir os movimentos oficiais institucionalizados, possibilitando o escoamento das águas. Essas singelas correntes geram divisores de águas, com dimensões mais significativas e assim um rio vai nascendo, crescendo, tomando força. Formado através desses divisores, ele segue seu curso, até que movimentos contrários, contracorrentes, favoreçam a transformação de seu caminhar, possibilitando efetivas mudanças em seu curso original. Esse processo ativo que caracteriza os sistemas simbólicos, enquanto abertos. As águas formadoras da bacia semântica do imaginário trazem, na sua trajetória, a possibilidade de mudanças, a quebra da harmonia, a riqueza dos conflitos e contradições, o diálogo entre a natureza e a cultura: o tesouro da dinâmica social.
redes de relações, geralmente são solicitados setores que continuam sob a influência de significativos costumes pautados na tradição: uma espécie de porto seguro. Seguindo esse itinerário, acredito que as agregações que cercam os folguedos podem ser compreendidas com tal fim. As associações de artesãos, a organização de grupos de brincantes que participam coletivamente das manifestações da tradição, as oficinas articuladas no âmbito institucional pela reivindicação de moradores e foliões são alguns dos exemplos dessa dinâmica comunal. Os processos e estruturas que se opõem ao surgimento e difusão das crises de sentido ajudam os indivíduos e os grupos a superarem as lacunas presentes na contemporaneidade em relação à geração, comunicação, preservação de necessidades e valores. São as instituições intermediárias, entidades que se transformam em elementos de comunhão de sentido das comunidades (BERGER; LUCKMANN, 2004). Ampliando a ideia dessa busca de sentido penso na Bacia Semântica conceituada por Durand5: nos pequenos escoamentos que se tornam grandes novos rios: nas pequeninas saídas que rompem com o curso determinado, provando a vitalidade dos pequenos grupos que se formam dando movimento à tradição. Nessa procura de novos itinerários que acionam o movimento há uma reafirmação da presença dionisíaca no seio social. É a celebração da vida: a Arte como obra da vida e a vida como obra de Arte. Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
319
E assim, individualmente ou em grupo, os mascarados rompem, a cada Carnaval, com o tédio, as normas estabelecidas, a ordem preconizada, o dever-ser, dando asas à criatividade e à ousadia. Buscam o prazer, o sentido, a identificação tão necessários à realização, ao posicionamento no mundo (Dig. 02). Este lugar não é escasso e acompanha o sentimento disseminado de fazer de sua vida uma obra de arte. Posição estética? Talvez, se dermos a esse termo seu sentido pleno: o de experimentar, coletivamente, emoções, o de viver com intensidade. Tudo isso, recordo, não é necessariamente consciente, mas participa de uma espécie de inconsciente coletivo expresso em uma multiplicidade de índices frequentes de atualidade. (MAFFESOLI, 2003, p.88).
O Carnaval provoca emoção e exalta sentimentos. Os grupos formados no contexto da elaboração dos folguedos possibilitam a identificação e o sentido dos brincantes. Reconheço, porém, que as máscaras são o centro das atenções de todo esse processo de busca de prazer. O prazer da criação desses objetos que falam, dando vida a muitos
personagens;
o
prazer
de
mascarar-se,
tornando-se
representante da cultura de sua terra, da identidade de sua cidade; o prazer de suscitar o medo e vivenciar a vaidade, a partir dessas novas faces que comunicam, mesmo seguindo silenciosas pelas ruas e praças; o prazer de encarnar Monstros, Fadas, Palhaços, Lobos, Ninjas, Nêgasmalucas, e tantas outras novas identidades fugazes; o prazer de enganar os amigos e parentes, preservando o segredo e o anonimato; o prazer de desfilar nos Concursos, de ser fotografado, assediado, parado nas ruas; o prazer de planejar, elaborar, confeccionar, criar, explorar materiais, escolher, decidir, enfim, conjugar, coletivamente tantos verbos necessários à realização do mascaramento. E nesse processo de preservação e mudanças dar continuidade a uma cultura centenária tornando-a cada vez mais prazerosa (Fig. 02 e Dig. 03 a 05). Os brincantes reiteraram essa satisfação incomensurável vivida nos “instantes eternos”: ramas que teceram um emaranhado de informações, tão caras à compreensão da dimensão dessa trama de relações. As máscaras, em cada contexto, interferiram na vida dos sujeitos. E nesse processo de mascarar-se foi marcante o prazer e a Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
320
emoção (Fig. 03).
[6] Dentre várias premiações que já recebeu Marília Gabriela foi vencedora na categoria individual, no Concurso de 2012 dos Papangus de Bezerros. Na categoria Papangu estilizado, desfilou com uma fantasia em homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga.
Uma emoção imensa, a missão cumprida de estar dando continuidade a este leque cultural que transforma Bezerros no período momesco, com o personagem Papangu na rua. Quanto a ser fotografada e ganhar o Concurso, é uma satisfação enorme para mim, um orgulho muito grande, de saber que o povo, população local e turistas, aceitou e aplaudiu a fantasia. Mas caracterizo apenas como um elemento de proporcionar uma motivação para as pessoas saírem de Papangu, elegendo assim a melhor fantasia. Apesar de que para mim é indiferente ter Concurso ou não, pois eu estarei na rua levando o nome do Papangu para o mundo. (Marília Gabriela de Souza6).
O prazer de brincar, de elaborar as máscaras e fantasias para sair nas ruas e participar dos Concursos extrapola a questão financeira. “O custo não chega nem ao que a gente recebe na premiação. Porque realmente a gente gosta, né? Porque numa fantasia a gente chega a gastar mil e quinhentos, dois mil reais” (Marília Gabriela). Nas ruas de Afogados da Ingazeira os jovens brincantes Alyson e Antônio confirmaram o prazer de ser Tabaqueiro: “É divertido. É divertido brincar. É bom prá nós brincar assim, pedir dinheiro, andar por aí, pedir as coisas aos outros, aí essa é a brincadeira” (Alyson Lira). “É divertido brincar, sem arenga, sem
[7] Alyson Tiago de Lira, 14 anos. Antônio Silva, morador do sítio, trabalhava cortando capim.
confusão. Eu não bebo” (Antônio Silva)7. A razão e o afeto se fecundam mutuamente em alguns instantes comunais e o que Maffesoli (2003) chama de razão sensível pode se concretizar no desenvolvimento dos folguedos dos mascarados. Há planejamento e criatividade, aparência e essência, materialidade e espiritualidade, natureza e cultura, que se expressam em cada máscara elaborada, usada e exibida. Se não fosse pela máscara era só uma fantasia, né? Aí não... [com a máscara] você muda o jeito de andar, muda a voz. Se você é um cara pacato torna-se irreverente, brincalhão. Você adquire... você se liga àquele personagem mesmo. Você se entrega. (Erivan Feitosa).
Acredito que a identificação, o sentido, a vida construída como uma obra de Arte só é possível em função dos laços sociais que tecemos, com os fios tênues das relações. Segundo Latour (2009) o laço social é aquilo que liga os homens entre si, paixões e desejos que Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
321
nos agitam, forças personificadas que estruturam a sociedade, as quais nos ultrapassam, mesmo não sendo por nós construídos. No universo de ligações, paixões, sentimentos que existe no Carnaval e na Arte das máscaras, os artesãos-artistas também tecem relações de afeto e respeito: mestres com seus aprendizes; artesãos com outros artesãos; artesãos com os usuários das máscaras. E eu procuro criar com respeito aos meus irmãos artesãos e porque ninguém vai prá frente empurrando os próprios colegas de trabalho... enfim o ser humano... mas os colegas de trabalho a gente tem que ter respeito a eles. Porque se não tiver respeito a eles como é que a gente vai prá frente... a gente não passa. Porque a gente é uma porteira... o artista se chama-se uma porteira... Então cada qual que abra pro outro passar. Da maneira que ver que ele vai usufruir de alguma coisa. Ninguém pode abrir uma porta prá uma pessoa que a gente sabe que ele não quer nada. Eu não faço isso. (mestre Lula Vassoureiro).
As associações dos artesãos assinalam mais um elemento [8] Vide Capítulo 08
dentro da rede sociotécnica das máscaras8. “O delineamento de grupos é não apenas uma das ocupações dos cientistas sociais, mas também a tarefa constante dos próprios atores. Estes fazem sociologia para os sociólogos, e os sociólogos aprendem deles o que compõem seu conjunto de associações.” (LATOUR, 2012, p. 56). No desenvolvimento de tarefas coletivas e compartilhadas há o fortalecimento do trabalho e do prazer. Nós temos um faixa de 54 associados, mas todo o mês nas reuniões tá entrando um, dois, então tá aumentando mais, né. Então é uma prova que a Associação ela funciona. Eu sempre costumo dizer: o artesão se ele não procurar uma Associação não tem como ele ser reconhecido. A Associação tem numa faixa de 13 a 14 anos (Zé Pedro).
A Arte das máscaras traz a realização pessoal, a possibilidade de sobrevivência. Está atrelado também ao prazer de viver e produzir uma estética admirada pelo próprio artesão-artista e pelos outros. (Dig. 06) Faz 20 anos que eu tô nessa arte, né? Vivendo de artesão, porque antes mesmo eu trabalhava em construtora. Mas depois eu me interessei pelo artesanato e essas coisas aí eu digo, eu vou deixar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim mesmo. Então, me interessei, achei bonito o artesanato. Aí... comecei a fazer as máscaras e o pessoal achando bonito, bom e essas coisas, sabe? Daí Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
322
foi que eu comecei a viajar. Então eu viajei o Brasil inteiro, quer dizer, representando o artesanato de nossa cidade porque queira ou não queira o Papangu é muito forte. Ele é conhecido no Brasil e também fora do Brasil. (Zé Pedro).
Os indivíduos se realizam e, no grupo, formam uma teia de relações. Zé Pedro colhe os frutos das sementes plantadas na Associação dos artesãos e se orgulha dos fios que envolvem o seu trabalho, tecidos pelas tramas da confiança e apreço. “Aí para o ano já vai haver eleição e a turma não quer que eu saia. Tudo o que a gente faz é com o interesse de todos” (Zé Pedro). Nas narrativas os artesãos-artistas expressaram o prazer de executar as máscaras preservando a tradição: elaborar as máscaras artesanais guardando as características do simples, do rústico, dos ensinamentos anteriores. Até porque a gente tem a opção de sair com a máscara tradicional de Bezerros e não aquela industrializada. Porque é assim... é bonito é, mas não é a cultura de Bezerros. Aquela de borracha não é a cultura de Bezerros. E eu acho que a de papel colê eu acredito que seja. Porque desde que eu nasci e me criei que venho conhecendo essa máscara. (Cícera dos Santos).
A satisfação de ser elogiado pelos visitantes também foi ressaltado nas narrativas dos artesãos-artistas:
[9] Claudio divide o ateliê com Josy, sua esposa. Continua a aprender novas técnicas, como a da máscara em couro.
Muito prazer e a satisfação de chegar alguém olhar um trabalho que você faz e elogiar deixa você lá nas nuvens, né? [...] O que eu faço é isso, mais nada. Mas o prazer, o gosto, o amor que você tem de fazer a peça, isso é muito gostoso. Eu mesmo aprendi a fazer e a amar fazer. Hoje eu não me vejo fazer mais nada na vida a não ser máscara. (Claudio Sergio Rocha9).
Nesse conjunto de pequenas ações que envolvem brincantes, moradores, visitantes e artesãos-artistas, o espírito do tempo passa a privilegiar as relações construídas sobre bases do prazer de relacionarse e, como diria o filósofo, um dizer “sim à vida”: Nietzsche, e seu “grande dizer sim à vida”, é, nesse aspecto, um bom inspirador para compreender nosso tempo, já que permite captar a extraordinária vitalidade social, negada pelos inumeráveis “amargurados” ou o que vem a ser o mesmo, “cabisbaixos”, que se autoproclamam sensores de uma época em deserdamento. (MAFFESOLI, 2003, p.180).
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
323
7.1.2 Ciclo da Dádiva: Alimentando a Alma O sentimento de prazer baseado nas relações humanas torna em geral o homem melhor; a alegria comum, o prazer usufruído em conjunto aumentam; dão ao indivíduo segurança, o tornam mais tranqüilo, dissipam a desconfiança, a inveja: pois a pessoa se sente bem ela própria e vê o outro, de igual modo, sentir-se bem. (NIETZSCHE, 2006, p. 97).
É característica das pessoas que vivem no interior a forma gentil e constante de acolhimento. Quem já teve oportunidade de viajar pelas cidades do agreste e do sertão de Pernambuco, certamente já provou desse manjar temperado pela cordialidade, simpatia, amizade, presteza, sinceridade e confiança. São muitos tênues os limites que separam os visitantes dos moradores. Logo, após romper com uma pequena dose de desconfiança, o matuto se entrega, abrindo seu coração e sua casa, para qualquer um que conquiste o seu apreço. E o que dizer da relação entre os próprios moradores? Existe uma consideração que embasa as relações de parentesco, de vizinhança, de amizade. Um cuidado e uma atenção construídos num convívio marcado pela proximidade, por um contato quase diário, por um conhecimento regado por pequenos atos corriqueiros: visitar uma vizinha levando um pedaço de bolo; dar assistência a um amigo enfermo, acompanhando seu restabelecimento; presentear conhecidos com as frutas e verduras colhidas do quintal; consolar alguém na perda de um ente querido. Essas e tantas outras preciosas ações costuram uma colorida manta, trabalhada pelas linhas do compartilhar. Nas festas e comemorações há uma continuidade dessa forma agradável de conviver, de prezar pela amizade, de trocar presentes e delicadezas. Nos folguedos dos mascarados pernambucanos essa prática faz parte da brincadeira. Na pesquisa sobre Caretas de Triunfo, pude constatar que: Os moradores acolhiam os Caretas como bons anfitriões, não importando quem estivesse por trás das máscaras. Sendo figuras representativas da cultura tradicional local, possuíam um status a eles atribuído durante os dias de folia: neste tempo simbólico, passavam a ser representantes da cultura, da tradição da cidade. (COSTA, 2009a, p.114).
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
324
Como na Terra dos Caretas em muitas outras cidades interioranas são mantidas ainda hoje ações estabelecidas em torno das manifestações populares: prestações e contraprestações construídas de forma livre, sem contrato, sem protocolos, sem legislação. São relações que se formam não no âmbito comercial, da circulação monetária, mas sob a égide do sentimento, da emoção, no universo simbólico. São conexões formatadas entre os brincantes, moradores, comerciantes, visitantes, numa dinâmica marcada pela harmonia e consideração. Nos primórdios da brincadeira dos Papangus de Bezerros os brincantes percorriam as residências, desfrutando da degustação de alimentos e bebidas. O angu, prato típico da região, era uma das principais iguarias oferecidas aos mascarados, conferindo-lhe o nome. Papar o angu significava deliciar-se com o manjar temperado com o sabor da amizade. Da mesma forma havia o acolhimento dos brincantes em Afogados da Ingazeira. Tinha aqueles mais elevados que saíam de casa em casa, bebendo nas casas e comendo salgados. O povo assava muita galinha, muita coisa e deixava ali, já esperando pela pessoa que vinha. O povo mais elevado só fazia isso, brincava mais disso. (Gastão Cerquinha).
Segundo outras narrativas não eram apenas aquelas pessoas que pertenciam a classes mais abastadas que usufruíam das regalias dadas pelos moradores e comerciantes. O mascaramento viabilizava o acesso dos indivíduos mais simples, em locais geralmente não percorridos por eles no cotidiano: a máscara era como um cartão de passe livre, possibilitando uma entrada franca e fraterna na maioria dos espaços. As minhas lembranças de pequena era um Carnaval de folião e meu pai curtia, ele fazia... e na época não era crime hediondo, guardava num tambor um tatu e limpava e cultivava esse bichinho, para no Carnaval ele ser comido, né? Então as portas eram abertas, a casa ficava uma bagunça porque todo mundo era molhado e os homens tinham as roupas rasgadas. Tinha um tonel com água, ou então... sempre muita água. Mangueira, né? Não era água suja era água limpa. Isso foi em 65. (Maria Lúcia Nogueira).
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
325
Os Antigos Tabaqueiros, ainda denominados de Papangus, participavam dessa folia regada a muito banho, mela-mela, comida e bebida. “Eles faziam, faziam. Botavam aquela máscara de jornal que modelavam e depois eles pintavam aquelas máscaras; as mãos a gente não conseguia identificar que eram cobertas; a voz eles disfarçavam a voz” (Maria Lúcia). Segundo os depoimentos existiam os grupos que circulavam pelas ruas e entravam nas casas e aqueles que se preparavam para recebê-los. Os mascarados eram acolhidos nas residências, onde divertiam os moradores. Estes, como forma de gratidão, lhe davam o alimento, a bebida e o carinho. Marcell Mauss (2003b) descreve no Ensaio sobre a Dádiva algumas sociedades que vivenciavam uma simples troca de bens, de riquezas ou de produtos em um mercado entre indivíduos. Nessas comunidades existia algo muito maior que extrapolava o conceito de mercado, mercadoria, moeda, percebido nas relações apenas comerciais. Na prática da dádiva envolviam-se indivíduos, clãs, famílias, tribos, em relações face a face ou representadas por seus chefes. Nessas sociedades estudadas pelo autor, a dádiva estimulava um endividamento positivo e simbólico, em prol de vínculos sociais desempenhando uma função catalisadora de alianças matrimoniais, religiosas, políticas, jurídicas e diplomáticas. Ali não se trocavam apenas bens e riquezas, móveis e imóveis, coisas economicamente úteis, mas trocam-se gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas. No fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato e a troca. (MAUSS, 2003b, p. 71).
Percebi, desde a pesquisa com os Caretas de Triunfo que a Cultura da Tradição é mais uma dimensão na qual o paradigma da dádiva encontra um terreno fecundo. Nas diversas brincadeiras populares as relações estabelecidas extrapolam as questões puramente mercadológicas e passam a expressar o campo do simbólico, em que o misto de interesse e desinteresse, de Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
326
obrigação e liberdade se faz presente. A brincadeira dos Caretas pode também ser percebida na dinâmica dessas relações. (COSTA, 2009a).
Marcel Mauss insistia em afirmar que as relações mediadas pela dádiva permaneciam vivas: não estavam embasadas em uma ótica egoísta de interesses, de obrigações financeiras ou jurídicas. Essas prestações simbólicas
e do
contraprestações
permeavam
comportamento
humano
outras e
dimensões
eram
feitas
“voluntariamente” por meio de presentes, regalos, sendo, porém, “obrigatórias”. A vida material e moral e a troca funcionam aqui sob forma desinteressada e obrigatória ao mesmo tempo. Além disso, esta obrigação exprime-se de maneira mítica, imaginária ou, se se quiser, simbólica e coletiva: assume o aspecto de interesse ligado às coisas trocadas. (MAUSS, 2003b, p. 92).
Nos estudos elaborados por Mauss, o Ciclo da dádiva era completo quando se concretizava a prática de dar os “presentes”, de recebê-los e de retribuí-los. Durante a passagem das trecas dos Caretas pela cidade observei que existia certa obrigatoriedade expressa durante a passagem dos brincantes. Circulavam pelas ladeiras e faziam o percurso necessário para visitar quem os esperava. Dar alegria e emoção aos moradores, parentes e amigos é como lhes oferecer um presente, um regalo, uma homenagem, pela possibilidade de vivenciarem, de perto, a brincadeira. (COSTA, 2007). Os moradores preparavam comidas e bebidas para receber a homenagem, expressa na visitação. Para retribuir a presença dos brincantes em suas residências, eram oferecidos alimentos, bebidas, e todo o acolhimento, expresso pelo carinho, sorrisos, apertos de mão. Assim moradores e brincantes participavam desses momentos de troca, completando um ritual cheio de simbolismo. O prazer de dar, receber e retribuir, era como um fio que alinhava as interações existentes no Ciclo da dádiva festiva. Acredito que esse Ciclo de prestações e contraprestações também marcou efetivamente as brincadeiras dos Papangus e Tabaqueiros principalmente no início da vida dos folguedos. Há cerca Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
327
de um século o acolhimento aos brincantes era quase uma obrigatoriedade, prova do reconhecimento da importância do folguedo. A máscara possibilitava o movimento de sentimentos, o acolhimento em espaços interditos, a quebra dos grilhões existentes pelas diferenças sociais. Nesse sentido, em cada contexto a máscara gerava conceitos, determinava ações, permitia a convivência compartilhada na festa. Entrava nas casas, vinha, fazia medo a gente e pedia dinheiro. E a pessoa, meu pai no caso, dava sempre um trocado. As roupas eram roupas bem feitas, uns tinham roupas maiores do que eles, do número que eles usavam, mas eles usavam um cinto, que apertava a cintura com aquela calça. Nunca vi uma roupa transparente, ou uma roupa que chamasse a atenção para o corpo daquela criatura. O que chamava a atenção para a gente era o que ele tava no rosto, né? Que botava aquela máscara e colocava também um chapéu (Maria Lúcia Nogueira).
Angu, galinha, tatu, cachaça, vinho, charque, frutas, dinheiro, tudo formava um conjunto prazeroso: apreciado, sentido, degustado. “Atender o Papangu, receber o Papangu sem [oferecer] nada não tinha graça. Que a graça é oferecer para saber quem é” (Erivan Feitosa) Com o passar dos anos o movimento da tradição trouxe mudanças. Em Bezerros a dimensão da folia dos Papangus veio atrelada a uma certa desconfiança, um afastamento entre moradores e brincantes. Os Papangus hoje não são apenas os filhos da terra, mas centenas de visitantes que também se fantasiam e se mascaram, encarnando a figura do mascarado de Bezerros. Antigamente a gente via os Papangus. Toda ponta de rua aí a gente via Papangu nas casas do povo. O pessoal fazia questão de abrir as portas para o Papangu entrar para beber dentro da casa das pessoas. Hoje em dia como mudaram muito as coisas. Até a violência ninguém abre as portas mais pro Papangu entrar. Tinha cachaça, tinha comida, a mesa era cheia, tava era tudo completo prá gente mesmo... chegar, beber, comer. E o pessoal não fazia nem questão de receber o Papangu mesmo dentro de casa. (Zé Pedro).
Observei que em Bezerros há uma preparação de toda a cidade para o acolhimento dos visitantes e dos amigos que vêm de outros municípios e estados para participarem da festa e também dos brincantes que circulam nas ruas mascarados. Entretanto, o Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
328
recebimento nas residências restringe-se aos conhecidos, pessoas do ciclo de amizade familiar. Essa é uma forma de preservar a integridade dos grupos, livrando-se da violência, de algum risco ocasionado pelo mascaramento. As casas se enchem de parentes e amigos, participantes da festa, mas sempre existe uma atenção com algum mascarado que possa ultrapassar os limites da confiança familiar (Dig. 07 e 08). Mesmo com algumas restrições, o carinho e o acolhimento dos moradores perduram até hoje. Em Bezerros os brincantes circulam nas residências dos parentes degustando os alimentos e bebidas. “Hoje o que se pede mais quando o Papangu sai é dinheiro, moedas, trocados. Antes tinha o angu e a galinha ao molho” (Erivan Feitosa). O mestre Beijamim afirma que o ciclo da dádiva continua presente em Afogados da Ingazeira. “Muitas vezes chega, toma uma cachacinha, toma uma bicada, come um tira gosto. Eu não bebo né? Mas, o tira gosto, eu como. É” (mestre Beijamim Almeida) (Fig. 03). Em relação aos Tabaqueiros há principalmente uma continuidade no recebimento do “trocado”.
[10] Escritor, estudioso da história local, Fernando Pires divulga a cultura afogadense.
Os mascarados de Afogados da Ingazeira são personagens que vivem intensamente esse momento. Não necessariamente pessoas que - por necessidade pedem dinheiro ou outras benesses por estarem cobertos pela máscara, mas, também, pessoas da "sociedade" que gostam da brincadeira e curtem, muito! (Fernando Pires10).
Ao circular pela cidade nos dias de Carnaval nunca deixei de ter uma bolsinha repleta de moedas. Ouvia constantemente as vozes embebidas pelo disfarce, repetindo incessantemente por trás das máscaras “Me dá um trocadinho”. E aí, satisfeita, entrava no jogo da dádiva, participando da brincadeira. Os brincantes, alegremente, começavam a se exibir com os chicotes; pousavam para fotos e respondiam as perguntas, com a voz em falcete (Dig. 08). Em minha opinião, o Ciclo da dádiva nesses municípios comprova que a tradição é renovada e preservada em cada lugar e a máscara viabiliza o movimento de manutenção e mudança. Os brincantes insistem em dar continuidade ao jogo da troca, ao circuito que cerca relações de prazer e que ajuda a conjugar verbos essenciais Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
329
para o desenrolar da identificação: trocar, dar, participar, receber, divertir, acolher, retribuir, compartilhar, brincar, festejar. Em muitos depoimentos os brincantes e moradores expressaram a necessidade da perpetuidade dessa tradição marcada pela troca. “É tem que ter. A gente sai no comércio tem pessoas que ainda preservam a tradição, sabe? Gostam de agradar. A gente não faz por dinheiro, mas mantém a tradição de pedir” (mestre Beijamim Almeida). E assim o prazer é revelado em cada ação marcada pela simplicidade. A identificação, o sentido, a vida conjugada, a reunião vivida na festa, nos grupos, nos vínculos formados, no Carnaval dos mascarados. 7.1.3 O Último Carnaval: o Prazer de mais um A nós, seres orgânicos, nada nos interessa na origem em cada coisa, senão sua relação conosco com o que concerne ao prazer e à dor. (NIETZSCHE, 2006, p. 44).
Pernambuco, como outros estados do Nordeste, sofreu em 2012 a pior seca dos últimos 30 anos. Na região do semi-árido muitos produtores perderam suas lavouras e animais de criação. Com as estiagens prolongadas, barragens e açudes secaram expulsando os habitantes de suas terras. Para sanar as dificuldades foram acionadas ações públicas emergenciais, além de uma gama de intervenções de grupos religiosos e entidades particulares, que visavam arrecadar alimentos e água potável para a população atingida. No agreste e sertão pernambucanos os reflexos da estiagem foram vistos nas paisagens: sol escaldante, chão esturricado, vegetação seca, animais mortos nas estradas, peixes agonizando na lama de açudes quase inexistentes. Na região rural de Bezerros e Afogados da Ingazeira a situação foi tornando-se cada vez mais difícil com o passar do ano. No Carnaval de 2012 eu presenciei a última chuva mais forte registrada naquele ano e pude acompanhar, nos retornos aos municípios, a violenta estiagem que assolou o restante dos meses. As chuvas foram ansiosamente esperadas a partir do mês de dezembro e, com elas, a esperança de dias melhores. Entretanto o
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
330
tempo continuou seco e as chuvas não chegaram com a intensidade necessária: encheram poucos barreiros, dando apenas uma pincelada de verde e esperança na vegetação do agreste, do sertão e na alma dos que esperavam a melhoria do clima para tentar o plantio da lavoura de subsistência. Como se repetia a cada ano, em dezembro também os brincantes já começaram a imaginar a fantasia para a próxima folia dos mascarados. “Estou pensando sim no próximo Carnaval, é uma coisa que não me sai da cabeça” (Marília Gabriela). Fevereiro chegou para mudar as cores e os humores. As combinações, tom sobre tom, dos marrons e cinzas, deram lugar à diversidade: arco-íris de cores e brilhos. A festa carnavalesca marcava um tempo limiar, capaz de apagar, pelo menos temporariamente, com as tristezas e amarguras do passado próximo. “[...] a dor procura sempre suas causas, enquanto o prazer mostra inclinação para se bastar a si próprio e a não olhar para trás” (NIETZSCHE, 2008). Assim a tristeza com as dificuldades da estiagem foram esquecidas durante o mágico período limiar do reisado de Momo. O Carnaval de 2013 desvelava-se mais uma vez como semelhante e único; igual e diverso; mesmo e exclusivo. Mantinha antigos rituais e inaugurava novos sentidos: pluralidade materializada em festa. Era o tempo de brincar, de esquecer, de renovar: de se mascarar. Era o momento de sentir a satisfação de ser outro. Momento de tornar-se personagem desse teatro grandioso (Dig. 10). No Carnaval, a brincadeira é coisa séria. Brincar é comunicar, falar de diferentes maneiras. Falar com o corpo, com a fantasia, com a máscara, com a pintura na cara, com a dança, com o gosto, com o sorriso, integrando, dessa forma, os repertórios simbólicos desse teatro coletivo, ao ar livre, cuja platéia exercita o ato de se representar no palco (LODY, 2001, p. 13).
A Lua Nova repetia a força do mito, deixando o céu iluminado apenas pelas estrelas, que ofuscavam, na terra, a brincadeira libertina. Mais uma vez a Arte mostrou sua ação transformadora, contribuindo para a alegria do viver. Materializando o pensamento nietzscheniano representou uma força ativa para o homem criar e dar sentido à vida, Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
331
embelezando-a. Naquele ano completei o ciclo dos quatro Carnavais que formatariam meu campo, no período de festa. Embora assinalasse em meu cronograma o último Carnaval da pesquisa foi apenas mais um ponto na costura das celebrações eternas, que não se importam com a agenda dos pesquisadores. Aquela era mais uma folia dos mascarados e certamente muitas outras viriam nos anos que se seguiriam na flecha do tempo, marcadas pelas permanências e mudanças na Cultura da Tradição. Em Bezerros e Afogados da Ingazeira as novas gestões das prefeituras recém eleitas geraram expectativas e esperanças por mais apoio institucional: medidas deveriam ser tomadas para incentivar a folia dos mascarados, pagando as promessas de campanha. O Carnaval aconteceu no início de fevereiro e certamente foi a primeira prova da competência dos gestores ligados ao Turismo e à Cultura. Mais uma vez segui viagem para Bezerros. A temática escolhida para orientar a folia dos mascarados foi A Magia dos [11] Propaganda Institucional do Carnaval de Bezerros em 2013
Papangus11. Naquele ano o homenageado, o ilustre bezerrense José João da Silva, era corredor de maratonas e vencedor da São Silvestre em 1980 e 1985. Segundo a propaganda institucional, o pódio da São Silvestre era a segunda casa de José, pois, nos termos do atleta, “Bezerros sempre seria a primeira”. Além dos anos em que foi campeão o maratonista teve duas terceiras colocações em 1981 e 1982 e uma segunda posição em 1984. Realmente o clima mágico envolvia a cidade, nos preparativos daquela manhã ensolarada de domingo. Mais uma vez moradores enfeitando as casas, comerciantes organizando as mercadorias, policiais circulando pelas ruas, repórteres fazendo suas primeiras abordagens, turistas chegando vestindo fantasias diversas, músicos afinando os instrumentos e eles, os Papangus, com suas máscaras multiformes, saindo anonimamente dos lugares, dando continuidade à tradição e ao prazer de compartilhar com todos que estavam ali para vê-los. A Folia começou cedo e seguiu até a noite, com o desfile dos mascarados, o Concurso institucional e os shows nos palcos Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
332
estrategicamente distribuídos pela cidade. À medida que o tempo passava a efervescência festiva aumentava e o espaço entre os foliões diminuía: a multidão nas ruas. Nas residências os turistas davam asas à criatividade, com suas fantasias planejadas em grupo (Dig. 11). Esse grupo da gente é um grupo só de amigos e agora tá entrando os sobrinhos. Já entrou filhos também. Todos a de Recife. Por que Bezerros? Bezerros ainda resgata um pouquinho do Carnaval antigo. Então a gente vê as brincadeiras, a gente vê as fantasias, a gente vê o povo na rua, sem maldade. Então aqui é um Carnaval que eu acho mais tranqüilo. A gente aluga sempre esse terracinho. [...] As fantasias a gente vai dizendo e cada um dá sua opinião. O Papangu é assim, um Carnaval que eu espero que dure por muitos anos. A gente tinha isso em Olinda, mas aí começou a encher demais. (Ana Maria12) [12] Brincante-turista, dentista, 49 anos.
Encontrei na cidade outros grupos, com seus kaftas coloridos e máscaras industrializadas. Nas ladeiras a diversidade das máscaras artesanais produzidas pelos artesãos locais: Papangu motorizado, Papangu comendo angu, Palhaço-papangu, todos demonstrando uma satisfação enorme por estar ali, vivendo a magia da festa (Dig. 12). Percorrendo uma estreita rua vi um lindo grupo de Arlequins que passava correndo, em direção ao Concurso. Segui depressa até alcançá-los e pedi que parassem para que pudesse fazer um registro fotográfico. Imediatamente ouvi uma voz por trás de uma das máscaras. “Graça! Sou eu! Não está me reconhecendo?” Fiquei emocionada com a insistência da voz, que tentava quebrar o jogo do anonimato em prol do reconhecimento de sua verdadeira identidade. Parecia estar feliz por me encontrar nas ruas da cidade e demonstrava querer ser realmente identificado por mim. Tentei desvendar o mistério fitando os olhos que brilhavam nos orifícios da linda máscara colorida. Procurei ouvir com cuidado o timbre da voz daquele brincante mascarado. Observei também a estética do grupo, com suas ricas fantasias e adereços. Por todo o conjunto de informações reconheci que se tratava de Murilo Albuquerque, e seu grupo. O rápido encontro foi muito gratificante, mas o Concurso já iria começar e o majestoso grupo de Arlequins-papangus seguiu apressadamente para a exibição no
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
333
palco (Dig. 13). Como em Bezerros, Afogados da Ingazeira também escolheu um importante personagem como homenageado. Ali foi a figura do Tabaqueiro. Era o reconhecimento institucional da importância do mascarado para a cultura local, revelando a ampliação de uma identidade em construção - Afogados da Ingazeira: Terra dos Tabaqueiros. O tema escolhido para a propaganda da folia foi Carnaval de Afogados da [13] Propaganda Institucional Afogados da Ingazeira em 2013
Ingazeira: Tradição dos Tabaqueiros13. O slogan serviu de mote para que o artista plástico César Tenório elaborasse a decoração dos principais pólos da cidade: o Polo das Tradições (no bar de Dona Diná), o Polo Frevo (na Praça de Alimentação) e o prédio da Prefeitura, local de destaque. Esses espaços receberam assim uma ornamentação carnavalesca alusiva aos mascarados afogadenses (Dig 14). Alguns dias antes do Carnaval a Prefeitura, orientada pelo Ministério Público e pelas Polícias Civis e Militares, convocou os brincantes que sairiam fantasiados de Tabaqueiro para realizarem um cadastramento na Secretaria de Cultura e Esportes, sediada no Centro Esportivo Municipal. Com o objetivo de assegurar a tranqüilidade e a segurança da festa, os Tabaqueiros deveriam se apresentar na Secretaria, munidos de CPF e foto. Certamente o mascaramento foi o fator primordial para que tal orientação fosse dada pelos órgãos de segurança. Entretanto, os gestores tinham por objetivo, além da questão de segurança, tentar registrar o número de Tabaqueiros existentes na cidade, que crescia a olhos vistos. Fiquei realmente impressionada com a quantidade de Tabaqueiros na Praça da Matriz na segunda-feira pela manhã. Como presenciei nos outros Carnavais, os grupos saíam por várias ruas e circulavam na Praça, exibindo-se com o chicote e chocalhos barulhentos. O que me chamou a atenção foi o grande número de crianças que brincavam, com seus relhos e chocalhos barulhentos. Diabos com capas vermelhas; Soldados com armas reluzentes; Capitães com perucas brilhantes; Lobos com cara de borracha; Caveiras, com capas acetinadas trazendo mensagens escritas. Alguns parentes Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
334
acompanhavam os menores Tabaqueiros, porém a maioria seguia com sua turma, sem a preocupação com a espetacularização, o desfile, o palco. Na verdade a rua era o lugar de exibição conjunta e o prazer da brincadeira era cercar os moradores e comerciantes, pedindo-lhes uma moedinha. Eles orgulhavam-se por participarem da tradicional brincadeira. A Dádiva transbordava de prazer (Dig. 15). É a cultura da região que deixa a gente assim... Como posso dizer? Sentido em não dar. Muitos deles pedem por cultura, agora outros às vezes pedem até por necessidade, né? Se trajam e quando chega no fim do dia contam o que têm e o que ganhou, né? (Júnior Veras14)
[14] Comerciante, 40 anos.
Pelo que pude perceber, não havia turistas no centro. A brincadeira dos mascarados afogadenses transcorria sem o assédio dos visitantes ou da indústria midiática. Apenas a rádio Pajeú, emissora local, fazia a cobertura do Carnaval. Encontrei com mestre Beijamim, fantasiado de Lobizomem, acompanhado com o secretário de Cultura, Alessandro Palmeira e, o diretor de Cultura, William Tenório, que seguiam, também mascarados, para dar uma entrevista na rádio. A tríade dos Tabaqueiros Rabo de Cuia exibia orgulhosamente suas máscaras artesanais e fantasias improvisadas: resgate da tradição dos antigos Carnavais Como eles, um maior número de brincantes deixou as máscaras industrualizadas e voltaram a usar as artesanais, orgulhandose disso.
[15] Tiago era discípulo de mestre Beijamim, participando de seu grupo de brincantes. No Capítulo 8 a referência sobre os Rabo de Cuia.
Porque eu acho assim. A cultura de Tabaqueiro aqui de Afogados vem de roupas velhas, a máscara de papel machê, feita com papel e cola, chocalho e o reio. É a valorização da Cultura. Porque já tá mudando muito, estilizando demais e tem que deixar bem claro que o Tabaqueiro tradicional, o Tabaqueiro Rabo de Cuia começou assim. (Tiago Tabaqueiro15).
O mestre Beijamim falou com satisfação do Bloco dos Tabaqueiros que saiu pela primeira vez, arrastando, no dia anterior, cerca de 70 brincantes. O Bloco dos Tabaqueiros que saiu ontem derrubou muito Bloco que tem aqui [...] Realizou o Bloco com o trio elétrico e assim... Tabaqueiro é sempre um bicho rebelde e mercenário, sabe? Eles são rebeldes porque não param no canto e mercenários porque eles sempre querem tomar uma coisinha, um refrigerante... mas compareceram cerca de 70 Tabaqueiros. E a intenção deles Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
335
é para o ano aumentar o Bloco, estruturar melhor, né? E aumentar a decoração. (mestre Beijamim).
O secretário Alessandro destacou a intenção da Prefeitura de “transformar o Tabaqueiro em protagonista da festa”. Beijamim registrou a intenção dos gestores em divulgar durante esse próximo ano a cultura dos mascarados, nas escolas municipais. O trabalho de base representava o desejo de perdurar a brincadeira centenária. O Carnaval sertanejo seguia seu rumo. Mais uma vez os Blocos nas ruas, o Concurso dos Tabaqueiros, a alegria de receber os parentes e amigos para o feriado prolongado. Mais uma vez o prazer de participar do folguedo centenário, vivenciando novos personagens e brincando de ser outro. Novamente cada máscara cumpria sua função de sujeitoobjeto (Fig.04). Mais um ano em que o prazer atingiu moradores, brincantes, visitantes e a pesquisadora. Com a sensação de dever cumprido, senti a gratificação de ter acompanhado de perto a emoção da festa em Bezerros e Afogados da Ingazeira, nos quatro anos consecutivos. Estava
no
campo,
desvendando
segredos,
compartilhando
sentimentos e ampliando o conhecimento. Pude ver a riqueza das máscaras que se transmudavam a cada Carnaval. Pude presenciar o movimento da tradição. Aprendi com os brincantes, moradores e visitantes. Humanos e não-humanos contaram suas próprias histórias: um mundo feito das concatenações de mediadores que agiam e interagiam (LATOUR, 2012). Após participar da Folia dos Papangus e Tabaqueiros não esquecia daqueles que tanto me ensinaram no início de minha caminhada como pesquisadora: os Caretas de Triunfo. Voltei, a cada Carnaval, para reencontrá-los, revivendo os laços de amizade construídos: emoção compartilhada com os mascarados triunfenses. Fios encantados que coseram os tecidos do afeto e do respeito (APÊNDICE G) (Dig. 16).
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
336
[Fig 01] Marília Gabriela: prazer em ser Papangu. (Acervo: Marília Gabriela)
[Fig 02] Tabaqueiros: satisfação por estarem juntos (Acervo: Beijamim Almeida)
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
337
[Fig 03] Os Tabaqueiros são acolhidos com carinho pelos amigosmoradores. (Acervo Beijamim Almeida)
[Fig.04] As máscaras artesanais voltavam às ruas. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 7 – O Prazer: Poder da Identificação
338
8. MOVIMENTO DA TRADIÇÃO
Tradição são elementos de sentido modelados historicamente nas vertentes mais antigas do agir social. (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 18). A ideia de uma tradição estável é uma ilusão da qual os antropólogos há muito se livraram. Todas as tradições imutáveis mudaram anteontem. (LATOUR, 2009, p.74).
Capítulo 8- Movimento da Tradição
339
A mitologia grega sempre enalteceu a natureza e os objetos que cercavam as divindades, reconhecendo que existia uma energia vital inerente aos seres. Os animais, a flora, os instrumentos de trabalho, as ferramentas, tudo isso ajudava a valorizar os atributos divinos, fazendo parte das narrativas míticas. Em um diálogo amplo, seres animados e inanimados criavam vida e constituíam o cosmo que envolvia a todos. A águia seguia Zeus, indicando-lhe caminhos. A coruja dividia sua sapiência com Atenas; a pantera tornava Dionísio mais medonho e temido. Héstia, deusa do lar, tinha como símbolo o fogo acolhedor, enquanto Hefesto venerava o fogo avassalador e as ferramentas de trabalho. O tridente acompanhava Poseidon em suas grandiosas ações e o bidente auxiliava Hades em seus feitos medonhos. A lira e o arco não se afastavam de Apolo, possibilitando que cumprisse seus benefícios aos outros deuses e aos pobres mortais. Com a ajuda do arco e flechas, Eros atirava dardos de desejo contra o peito de homens e de deuses. Com o som de sua flauta, Pan causava pânico nos viajantes, na calada da noite (KURY, 2008). Capítulo 8- Movimento da Tradição
340
8.1 Objetos que Falam sem Calar Sujeitos A tradição não se dissocia do que lhe é contrário, propondo-se um ousado movimento de atualização que é expressão do espírito do tempo, o Zeitgeist. Por meio da história, seu sentido é refeito, constantemente. Nessa perspectiva é possível falar de tradição viva, aquela que renasce sem cessar. (AMORIM, NOGUEIRA, COSTA, 2010, p. 132).
A força e a vida da Cultura da Tradição estão envoltas em uma dinâmica própria, em um movimento constante e perene: tradição viva. Faz-se necessário, portanto, compreender os processos de reelaboração e ressignificação dos fazeres e saberes que embasam sua existência; detectar as tensões e os conflitos que a alimentam; visualizar as ações de preservação e renovação, de conservação e regeneração que abrangem sua história (AMORIM, NOGUEIRA, COSTA, 2010). No processo de elaboração da Cartografia dos mascarados pernambucanos, tive oportunidade de ouvir muitos depoimentos sobre essa vivacidade da tradição, indispensáveis para que pudesse compreender a dinâmica que cercava os folguedos. Embora não tenha tido possibilidade de chegar a um maior aprofundamento sobre determinadas questões, pela dimensão do universo estudado, as revelações foram vitais para assinalar pontos de reflexão sobre o contexto geral das brincadeiras. [1] Vide Capítulo. 05
O debate entre ordem e desordem1 destacou pontos de suma importância para que eu visualizasse melhor os movimentos existentes nas comunidades estudadas e o jogo de forças que se desenvolvia no âmbito individual e coletivo da preparação e participação na pândega carnavalesca. Na mitologia, na religião, em diversas narrativas da Cultura da Tradição, no universo das festas, essa dinâmica representa a própria vida dessas manifestações, marcadas por um constante processo de trocas, pois “a ordem social se alimenta incessantemente da energia que a desordem providencia [...]”, (BALANDIER, 1997, p. 132). Os personagens que brotam deste movimento viabilizam um jogo: ajudam a compreender a natureza contraditória da sociedade, Capítulo 8- Movimento da Tradição
341
mistura instável entre ordem e desordem. Estes, como a própria humanidade, tem sua porção positiva e negativa. A festa é um exemplo dessa dinâmica. Ao fazer a mímica da desordem e do caos por meio da confusão dos corpos, o mistério dionisíaco funda periodicamente uma nova ordem, e assim, sublinha também a preeminência do coletivo em relação ao individualismo, bem como em relação ao seu correlato racional, o social. (MAFFESOLI, 1985, p.21).
Os efeitos esperados pela desordem festiva e ritual algumas vezes extrapolam os limites necessários a um sadio efeito catártico, chegando a um desequilíbrio devastador, onde o excesso permitido é ultrapassado, acarretando punições. Entretanto, quando o jogo das transgressões possibilita a degeneração e vitória de uma desordem perigosa sob uma ordem necessária, há o repúdio e o controle no âmbito do real, para a volta dos níveis toleráveis da pândega. E assim, o jogo entre o ordenamento e a anarquia marca o movimento, fermento para a dinâmica social (BALANDIER, 1997, BAKHTIN, 2002). Entendo que, embebida nesse néctar, a festa carnavalesca é construída e nela são formatados os folguedos da Cultura da Tradição. Os depoimentos e registros mostraram que na pândega dos mascarados dos municípios pernambucanos houve uma ruptura do equilíbrio entre ordem e desordem em diversos momentos, levando a tomada de medidas extremas para se conter um possível risco propiciado pelo mascaramento. Ainda em 1965, Katarina Real assinala a proibição dos mascarados no Carnaval do Recife. Em 1965, fiz parte da Comissão Organizadora do Carnaval do Recife, e tive a ideia de organizar um „concurso de ursos‟ para incentivar essa notável tradição folclórica. Mas poucos dias antes do carnaval, a Secretaria de Segurança Pública anunciou a proibição total dos „mascarados‟ no carnaval de 1965. Fomos, então, em „comissão‟, enfrentar o diretor da Segurança Pública em sua caverna, para pedir „bondade‟ para com os „Ursos do Carnavá‟ (REAL, 1990, p.117).
As cidades foram crescendo e a violência ocasionada pela ingestão abusiva de bebidas alcoólicas e utilização de armas aumentou, influenciando no desenvolvimento da festa. O uso da máscara e o anonimato por ela viabilizado passaram a representar um Capítulo 8- Movimento da Tradição
342
perigo para o encobrimento de indivíduos que extrapolavam a ordem necessária ao convívio social, durante as festividades carnavalescas. Por esse motivo muitos dos folguedos foram proibidos ficando apenas como uma lembrança de um passado remoto. Nos anos 80 existiam em Itapissuma homens que no período de Carnaval pintavam o rosto com carvão vestiam roupas femininas e como acessório de mão usavam um jereré, instrumento de pesca, que servia para arrecadar dinheiro nas casas que eles passavam. Mas com o surgimento da violência na cidade, como em todo o Brasil, as autoridades resolveram proibir esta manifestação. (Adenézio dos Santos2).
[2] Gestor de Cultura de Itapissuma, RMR-Núcleo Norte
Não temos [brincadeiras com máscaras]. Houve há anos atrás um decreto proibindo, por causa da violência. Foi na gestão do Prefeito Carlos Santana. (Carla Medeiros 3).
[3] Secretária do Diretor de Cultura de Ipojuca, RMRNúcleo Sul
Não tem mascarados por causa da violência- decreto de 1994. O Papangu de Agrestina já existia e, segundo meu pai ele era mais antigo que o de Bezerros (Alberto Wagnê4).
[4] Secretário de Cultura de Agrestina, Região do Agreste Central
Em
Bezerros,
embora
a
desordem
provocada
pelo
mascaramento não tenha sido motivo de rompimento com a brincadeira da Tradição, existe ainda certa prevenção por parte dos órgãos institucionais5 para que o risco do “excesso” propiciado pela
[5] Restrição especificada nas Normas da Folia do Papangu 2012, publicadas no site institucional. Existem mais de uma dezena de outras normas que direcionam a conduta de moradores e visitantes no Carnaval.
pândega carnavalesca não seja maximizado pelo uso da máscara. Uma norma limita o uso de máscara em Bezerros, até 18h. Realmente depois das 6h [18h], não é permitido ninguém de máscara circulando nas ruas, a fantasia pode permanecer, mas a máscara não, e confesso que esta norma é bem aceita pela população e não há muitos casos de não cumprimento dessa norma, além dela ser bem antiga (Marília Gabriela).
Alguns depoimentos indicam o temor de moradores em relação à possibilidade de “qualquer pessoa” poder se mascarar e, a partir daí, cometer algum delito, sem ser reconhecido. Esse é um medo que segue os moradores desde os primórdios da brincadeira. “Eu nunca gostei do Papangu. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que as pessoas aproveitavam o Carnaval para se vingar dos inimigos. [6] Morador, Taxista, 62 anos
Se mascaravam e matavam, sem ninguém saber quem era” (Gilvam Carvalho6). O depoimento de Gilvam reitera que o medo não Capítulo 8- Movimento da Tradição
343
necessariamente está atrelado ao Feio, mas a insegurança e perturbação trazida pelo mascaramento: o temor do desconhecido. É notório que a desordem festiva toma conta dos blocos e direciona o uso das máscaras. A irreverência, a sátira, a comicidade propiciada pelo dinamismo da festa é revelado na brincadeira dos mascarados, oportunizando críticas sociais e políticas. No Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, o Bloco do Defunto sai às ruas desde 1999, sob a presidência de Nicéas Balbino.
[7] Secretária de Rinaldo da Costa - Secretário Executivo de Cultura e Lazer do Cabo de Santo Agostinho, RMR- Núcleo Sul)
Trata-se de um Bloco Carnavalesco que tem como principal característica a "sátira". Todo o ano acontece um enterro de um político que não tenha trabalhado devidamente no município. [...] Sai pontualmente à 12h do cemitério local, com direito a caixão e velório para o suposto defunto. Aproveitando o enredo, os foliões criaram uma característica própria para o bloco, vindo a grande maioria à caráter com máscaras e fantasias direcionadas ao tema. Hoje o mencionado bloco é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores da nossa cidade, trazendo em seu desfile cerca de dez mil pessoas. (Adriele Nascimento7).
Em alguns municípios a identidade do lugar está cada vez mais atrelada aos folguedos, o que move o apoio institucional, a cobertura midiática, o envolvimento comercial e de turismo. Em outros, onde a festa não é “animada”, onde o apoio institucional é precário, onde a identidade do lugar não está ligada aos personagens das brincadeiras carnavalescas, a população prefere deixar a cidade natal e aproveitar o feriadão para viver o Carnaval na Capital, Recife, ou nas praias do litoral pernambucano. Alguns moradores aproveitam também para descansar na própria região, nos sítios próximos às cidades, deixando os municípios praticamente desertos.
[8] Secretário de Cultura de Lajedo, Região do Agreste Meridional.
Nos anos 80 os Clubes acabaram e o pessoal tomou o caminho das praias. Depois da época das micaretas o poder público deixou de investir. É um Carnaval caro. Mas nós queremos resgatar. (Joseildo Bezerra8).
[9] Diretor de Cultura de Santa Cruz do Capibaribe, Região do Agreste Setentrional.
Aqui não há Carnaval. Por incrível que pareça no Carnaval a cidade fica deserta. O pessoal vai para o litoral. (José Oliveira9).
[10] Chefe de Gabinete de Inajá, Região do Moxotó,
Aqui no Carnaval a turma vai cada um prá sua roça e a gente fica vendo o espetáculo pela televisão. (Mário Campos10).
Capítulo 8- Movimento da Tradição
344
[11] Secretária de Cultura de Garanhuns, Região do Agreste Meridional
Há muitos anos atrás existia um tradicional Carnaval com foliões mascarados que desfilavam pela cidade, porém não se tem registro do motivo que essa folia acabou. Acredita-se não ter sido passada de geração a geração, pois os registros da folia de Carnaval, bem como os tradicionais bailes de Carnaval tiveram seus últimos registros na década de 1980, observando-se a partir daí a evasão da população para as localidades onde acontece o tradicional Carnaval. (Ana Nery Azevedo11).
Existem os que fazem o itinerário contrário. Saem da agitação da Capital e seguem para o interior, com o objetivo de desfrutar da tranquilidade das cidades menores. Alguns municípios promovem eventos que motivam a vinda dos turistas que querem usufruir de outro tipo de entretenimento, fora do circuito carnavalesco.
[12] Secretário de Turismo de Taquaratinga do Norte, Região do Agreste Setentrional.
[13] Secretário de Educação de Lagoa Grande, Região do Sertão do São Francisco.
Aqui geralmente tem um Bloco que sai antes do Carnaval. O pessoal daqui vai para as praias e outros Estados. O pessoal que vem prá cá já vem prá fugir do Carnaval e descansar. (Ronaldo Veiga12). Nos últimos cinco anos a cidade tem aproveitado o período carnavalesco para realizar o Festival de Jazz, que vem atraindo a cada ano um número maior de turistas e ao mesmo tempo beneficiando a comunidade local que prefere a tranquilidade da cidade. (Ana Nery Azevedo). Aqui não tem Carnaval. Existe um grande evento evangélico: PENIEL. (Edivaldo13).
Muitas narrativas registraram a necessidade de se resgatar a tradição perdida, ou melhor, adormecida. Nesse contexto, a cada ano, tenta-se revigorar a festa e fazer um resgate das tradicionais brincadeiras: cada lugar aciona um leque de possibilidades de vida e renovação de sua cultura. Algumas estratégias são articuladas para que o Carnaval não perca sua importância no contexto dos ciclos festivos que marcam o calendário anual. Os moradores agrupam parentes e amigos, movimentando a brincadeira de rua. Na semana pré-carnavalesca as instituições de ensino ligadas às Secretarias de Educação municipais promovem desfiles de Blocos com crianças, adolescentes e docentes. As Secretarias de Cultura, Turismo e Esportes também tentam incentivar a saída de grupos. Nesses eventos há o uso de fantasias e Capítulo 8- Movimento da Tradição
345
os mascarados marcam presença Na verdade é uma brincadeira [com mascarados] um pouco informal, considerando a cultura local alguns populares por conta própria fazem esse manifesto no período do Carnaval. (Sandra Lustosa14).
[14] Secretária Adjunta de Educação, Cultura e Desportos de Santa Terezinha, Região Sertão do Pajeú
Não, a gente não tem nada não. Antes do Carnaval tem o Bloco Fica Vertentes, mas ninguém fica no Carnaval. Vai para Tamandaré e Recife. (Ailton Moura15).
[15] Diretor de Ensino de Vertentes, Região do Agreste Setentrional. [16] Coordenadora Municipal de Eucação de Ipubi, Região do Sertão do Araripe.
A cultura é muito fragilizada. Não tem recurso. Aqui nós fazemos [o Carnaval] apenas nas escolas. (Clenilda Oliveira16).
Os depoimentos desenham as várias tramas dessa realidade que se mostra, com suas múltiplas formas, cores e texturas, registrando o movimento da tradição. Nas brincadeiras de rua e blocos organizados as crianças se fantasiam, algumas mascaradas, trabalhando o imaginário dos heróis, personagens encantados dos contos infantis e figuras oníricas dos desenhos da atualidade. Os grupos da terceira idade também saem com máscaras e fantasias. A invasão dos Blocos, com música baiana, o uso de abadás, a participação dos trios elétricos, marcam não apenas os Carnavais das principais Capitais do país, mas dominam também o contexto interiorano.
[17] Gerente de Eventos de Floresta, Região de Itaparica.
E com essa história dessa musicalidade baiana os jovens só querem saber dessa música diferenciada. Mas estamos tentando resgatar as raízes de nossa cultura (Maria de Fátima Novaes17).
A pesquisadora Maria Alice Amorim faz uma interessante colocação em relação aos folguedos na Mata Norte, o que acredito possa servir de reflexão para o contexto geral do Estado. A fauna carnavalesca da Mata Norte pernambucana vem obedecendo ao princípio básico da evolução das espécies: sobrevive o mais forte. Pouco a pouco, boi, burra, besouro, urso cedem lugar a dois "fenômenos", independentes entre si, carreadores de quase toda a verba destinada à folia - os maracatus de baque solto e os trios elétricos, com os segregadores cordões de isolamento. (AMORIM, 2012).
Em algumas regiões determinada brincadeira prevalece, toma corpo, ganha visibilidade. Paralelamente há uma invasão dos trios Capítulo 8- Movimento da Tradição
346
elétricos, para a alegria daqueles que são tietes dessa musicalidade. Aí as cidades se vestem com as camisas dos blocos, repletas de marcas dos patrocinadores, numa festa que é ao mesmo tempo uma disputa e um compartilhamento. Como já mencionei, alguns mascarados seguem os trios, mas os folguedos tradicionais vão perdendo espaço para a nova forma de brincar. Outro importante evento que vitaliza a tradição dos mascarados é o Baile Municipal de máscaras. Em quase todos os municípios o Baile faz parte do calendário oficial, abrindo o Carnaval, mesmo quando esse não é muito comemorado. Os Bailes são um marco e reúnem a população local e os visitantes, sendo uma oportunidade de lançamento e divulgação do tema da festa carnavalesca, a cada ano. As máscaras usadas no evento ganham as ruas nos outros dias de folia. (Dig. 01) A gente vai começar logo através do Baile Municipal, que é o do Bal Masqué que atrai muitos turistas, muitas pessoas vêm com o intuito de se divertir e aprender um pouco sobre a cultura, que é muito importante, né? A gente já vai fazer todo o trabalho em cima já do surgimento do Papangu. (Claudenize Santos18).
[18] Diretora de Turismo e Curadora do Carnaval de Bezerros.
Pude registrar também, nesse movimento constante dos fios que formam a Cultura da Tradição, que algumas brincadeiras dos mascarados existentes em outros ciclos como o Natal, o Reisado e a Semana Santa migram, por motivos diversos, para o Carnaval. Em um itinerário contrário alguns folguedos deixam o Carnaval e passam a realizar-se em outros importantes períodos de festas e celebrações. As narrativas sobre a origem do folguedo dos Caretas de Triunfo revelaram que o Mateus, e seu companheiro de folguedo, que brincavam no Reisado em 1917 passaram a sair no Carnaval, como Caretas, dando início à brincadeira dos mascarados triunfenses. [19] Secretário de Cultura de Verdejante, Região do Sertão Central.
(COSTA, 2009a). Já os Caretas de Verdejante migraram da Semana Santa para o Carnaval. Os Caretas saíam na Semana Santa há 60 anos, queimando o Judas. Agora saem no Carnaval e em outros períodos do ano (Robson Sá19).
Capítulo 8- Movimento da Tradição
347
[20] Secretário de Cultura, Turismo e Esportes de Serrita, Sertão Central
A brincadeira de Careta em Serrita acontece no período da Semana Santa. Durante esse período surgem muitos grupos de Caretas que ocupam as ruas e bairros de nossa cidade. Eles saem nas ruas da cidade e zona rural recolhendo alimentos e dinheiro para serem colocados com o Judas, pregado num enorme “pau de sebo”. O ultimo dia dessa brincadeira é geralmente na sexta-feira da Paixão ou no sábado, onde se reúnem varias pessoas, alguns para assistir outros com roupas, jaquetas e até capacete para enfrentar os Caretas e retirar do Judas (boneco de palha e pano), todo o dinheiro e alimento recolhido durante as semanas anteriores. (Thiago Santos20).
É notório que a preocupação com a manutenção e renovação da tradição é contundente nos depoimentos. O desenvolvimento da Arte das máscaras, da confecção das fantasias, do modo de brincar, é fruto da ligação entre gerações, do intercâmbio de conhecimentos, das revelações da Cultura da Tradição. Muitas vezes a interrupção do folguedo se dá pela morte dos mais velhos, mestres ou guardiões dos saberes e fazeres: criadores e mantenedores das brincadeiras.
[21] Secretária de Gabinete de Amaraji, Região da Mata Sul.
[...] Muito antiga e deixou de existir. As pessoas que eram envolvidas com as citadas brincadeiras (Mateus e Urso) faleceram e seus descendentes não deram continuidade às mesmas. (Sônia Cavalcanti21).
A máscara, que não está incólume a todas essas implicações, apresenta-se viva, ativa, significante, tal qual a brincadeira. A impregnação dos artefatos industriais importados principalmente da China e do Paraguai, tornaram muito acessível à compra das máscaras de látex, presentes nos folguedos dos mascarados.
[22] Gerente de Eventos de Floresta, Região de Itaparica.
Os Caretas da minha região, eram pessoas do sexo masculino, que brincavam no Carnaval com roupas velhas e folgadas, usavam meias comuns para cobrir as mãos, manquejavam para ninguém reconhecer, usavam um bastão tipo cabo de vassoura, faziam barulho com chocalhos e corriam atrás das pessoas pra assustar, principalmente as crianças. As máscaras eram confeccionadas de papelão, pintadas à mão e dos lados levavam elástico para prender ou usavam tecido envolvido no rosto com abertura para olhos e bocas. Depois vieram máscaras de borrachas trazidas de fora, talvez, Recife ou Rio. Isto há 40 anos atrás. (Maria de Fátima Novaes22).
As vozes aqui registradas trouxeram uma pequena visão dos inúmeros caminhos seguidos pelos folguedos dos mascarados. Como
Capítulo 8- Movimento da Tradição
348
os sujeitos, as máscaras deixaram rastros, indicando os itinerários percorridos pelas brincadeiras. A tradição viva do mascaramento segue num processo de busca, de manutenção e de renovação: caminhar repleto de silêncios e vozes, de tensões e adaptações, de procuras e conquistas, de controvérsias e consensos. 8.1.1. Burburinho da Tradição O ano de 2011 ia terminando. Era Dezembro, dia 23, e Afogados da Ingazeira exalava o perfume do Natal. As casas enfeitadas, o povo apressado comprando presentes e iguarias e eu, ali, me sentindo um pouco deslocada, desejosa por falar sobre o próximo Carnaval. Mas quem queria falar da festa de Momo, quando o personagem da vez era Papai-Noel? Logo percebi que não era uma boa hora para procurar os órgãos institucionais. Naquele dia o expediente
terminaria
cedo,
pois
haveria
um
almoço
de
confraternização da Prefeitura e à noite, uma cantata na Praça da Matriz. Segui ao encontro de mestre Beijamim, em sua residência. Precisava saber das novidades e preparativos para a saída dos Tabaqueiros em fevereiro. Mais uma vez o mestre me recebeu de braços abertos e “língua solta”. Com toda a sua jovialidade e esperança por dias melhores, nunca demonstrava cansaço ou descaso ao falar dos mascarados afogadenses e de seu desejo em revitalizar, a cada ano, a tradição centenária. Ao me receber foi logo dizendo: “nesse ano tem novidade! “Vamos colocar os Rabos de Cuia nas ruas”. E começou a falar da nova ideia de trazer de volta os brincantes vestindo roupas velhas e usadas, meias nas mãos e máscaras artesanais feitas por eles próprios. “A questão do Tabaqueiro Rabo de Cuia, a gente quer botar papel machê em tudo”, afirmou enfaticamente o mestre. Compreendi que aquela seria uma ótima estratégia para trazer às ruas os brincantes que estavam interessados em sair, de forma mais espontânea, na pândega dos mascarados. Para participar do grupo, o folião teria que trajar vestimentas mais despojadas e máscaras Capítulo 8- Movimento da Tradição
349
artesanais, utilizando-se de sua maior riqueza para desenvolver a indumentária: a criatividade. A simplicidade certamente seria uma forma de incentivo, afastando qualquer intenção de aproximação dos parâmetros da Beleza do Belo. O feio, o cômico, o grotesco, o irreverente, que marcou o início da brincadeira dos Tabaqueiros, estava na hora da vez. A gente vai descer na rua. Se outros Tabaqueiros chegarem tudo bem. Mas Rabo de Cuia é o Tabaqueiro pobre. A gente quer assim. Que o Rabo de Cuia incentive a garotada da maneira da gente (mestre Beijamim).
Quando Beijamim falava “da maneira da gente” significava que seria da forma como ele e seus seguidores acreditavam ser melhor: mantendo a tradição da antiga brincadeira, sem o uso das emborrachadas máscaras importadas, dos macacões de cetim, das perucas de papéis brilhantes. Movida pela curiosidade, alguns dias antes do Carnaval enviei um e-mail ao mestre, procurando informações sobre os Rabo de Cuia e sobre a data da oficina de máscaras e burrinhas que seria promovida pela Secretaria de Cultura. Levantei a questão: “e aí, amigo, quando sai o Bloco dos Tabaqueiros Rabo de Cuia?” E ele respondeu textualmente: “os Rabos de Cuia não é Bloco, é uma Turma. E pode sair a qualquer momento”. Aquela simples resposta era muito significativa. Ser Bloco exigia um nível de organização que envolvia vários elementos ligados à questão de ordem: horário de saída, patrocínio, acompanhamento musical, indumentária semelhante, inscrição, dentre outros aspectos. O contexto de turma remetia à outra conotação, no âmbito do universo da desordem: mais liberdade de horário; o uso de vestimenta mais despojada, adesão ampliada de qualquer pessoa, criatividade e improvisação. Esse era exatamente o objetivo do mestre e daqueles que seguiam suas diretrizes: retomar a forma libertária do folguedo, quando os mascarados saíam dentro de uma simplicidade reveladora e atrativa, despertando a atenção e curiosidade dos moradores. Os Rabo de Cuia foram um sucesso! Reconhecimento da
Capítulo 8- Movimento da Tradição
350
população e dos visitantes. Realmente o pequeno grupo, liderado por Beijamim, ousou, resgatou, movimentou, despertou a curiosidade, com máscaras artesanais e fantasias mais simples e criativas. Percebi, no entanto, que eles ainda primaram por uma elegância despojada (Fig.01; Dig. 02). Sair com os Rabo de Cuia no Carnaval foi uma experiência maravilhosa já que eram figuras totalmente diferentes das demais e novidades para muitas pessoas que apenas conhecem os "novos" Tabaqueiros. Sempre que parávamos em algum lugar muita gente pedia para fazer fotos do grupo, e perguntavam se nós vamos permanecer com esse grupo. Lógico que sempre respondemos que sim, pois nossos planos são de aumentar o grupo que foram apenas seis, mas pela animação e por ser o primeiro ano da ideia pareciam 60 Foi muito gratificante a aceitação do grupo pela população que lembrou os antigos personagens e os turistas que amaram fazer fotos ao nosso lado. (mestre Beijamim).
Em relação à oficina de mascaras, certamente significou uma semente para que esse desejo dos Rabo de Cuia pudesse brotar e tomar corpo: a confecção das máscaras artesanais, com a participação das crianças e adolescentes e apoio institucional. A oficina aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2012, na sextafeira antes do conhecido sábado de Zé Pereira. Pelo terceiro ano consecutivo os trabalhos de confecções de máscaras artesanais e burrinhas foram dirigidos respectivamente pelo mestre Beijamim e Luciano Pires, artista plástico afogadense (Dig. 03). A oficina, como sempre, foi realizada no Centro Desportivo de nossa cidade, com 50 participantes divididos em dois turnos. Escolas levaram alguns alunos e outras crianças, que souberam da oficina por meio da divulgação também participaram, com alunos de oito a doze anos, digo que o aproveitamento da oficina foi de 70% (mestre Beijamim).
Acredito que o resultado foi regado pelo valor da aprendizagem conjunta. Troca de conhecimentos, aplicação de técnicas, disciplina, terapia, prazer, criatividade, tudo isso embasou a produção dos quase-sujeitos. Ali, cada máscara produzida falava dos seus criadores: expectativas, desejos, aspirações. Na cidade elas revelaram sentimentos e provocaram emoções. Naquele ano de 2012
Capítulo 8- Movimento da Tradição
351
o Rabo de Cuia foi às ruas e a propaganda institucional anunciou: Afogados da Ingazeira, o Carnaval dos Tabaqueiros. Certamente um reconhecimento da importância da brincadeira para a identidade da cidade sertaneja. Não foi só em Afogados da Ingazeira que houve o desejo de reviver a tradição. Bezerros, nos preparativos para o Carnaval de 2012, envolveu-se num trabalho de revigoração das características mais simples do folguedo original. O tradicional ele é necessário porque foi a partir deles que a gente começou. Uma roupa velha, uma roupa emprestada, botava a máscara e ia fazer a brincadeira. E aí começou e a gente tem que preservar esse tipo de coisa. (Marília Gabriela de Souza).
O objetivo era fazer com que mais Papangus percorressem as ruas da cidade, com seus kaftas coloridos e suas máscaras irreverentes, sem um interesse maior pela participação no Concurso municipal. A ordem era brincar! Os gestores da Secretaria de Turismo anunciaram as novidades no site da Prefeitura. O Carnaval da cidade ainda terá o Baile Municipal, no dia 4 de fevereiro, no Centro Literário Rui Barbosa. Estamos fechando as atrações, mas o tema do Baile é o mesmo do Carnaval – História e Tradição com o Papangu é só Emoção. Ao todo, serão 17 dias de festa. Este ano, as novidades serão uma disputa de Papangus por bairro e ensaios de orquestras pelas ruas do centro na semana pré-carnavalesca. (Valquíria Lizandra23) [23] Secretária Municipal de Turismo de Bezerros, Região do Agreste Central.
História e Tradição: com o Papangu é só Emoção. O tema escolhido para direcionar a folia do Papangu de 2012 comprovou minhas impressões iniciais: a tradição era a base para o desenvolvimento da festa, o fio condutor a ser seguido por todos. Esta seria uma linha que bordaria a manta da propaganda dos órgãos de Cultura e Turismo e, certamente, influenciaria os artesãos-artistas e brincantes na confecção das máscaras e escolha da temática de suas fantasias. Em janeiro de 2012, na Secretaria de Cultura e Turismo de Bezerros a Diretora de Turismo e curadora do bloco dos Papangus me anunciou o interesse institucional em apoiar os brincantes dos bairros, para que fizessem fantasias e máscaras e saíssem em grupo embelezando o Carnaval. Capítulo 8- Movimento da Tradição
352
Eles gostam de sair fantasiados, mas estavam deixando um pouco a origem que é a máscara. [...] Então o objetivo nosso era do resgate. Então os bairros estão se mobilizando prá sair uma turma de lá e se encontrar no centro. Assim, são milhares... eu não sei nem te dizer, porque alguns bairros eu não sei a quantidade exata de foliões assim, mascarados[...] uma com as máscaras originais, com uma mistura com atuais, as tradicionais e as estilizadas. [A prefeitura] Tá dando apoio. Tá dando as kaftas, as máscaras. (Claudenize Santos24).
[24] Diretora de Turismo de Bezerros e Curadora
Ficou explícito o desejo de fazer renascer a participação dos moradores na folia dos Papangus. Existia uma expectativa em reviver os momentos tão prazerosos existentes em décadas passadas, quando o objetivo maior não era “aparecer”, desfilar para os visitantes, participar do Concurso, ser fotografado e filmado pelas redes de televisão. As palavras de ordem eram “brincar livremente nas ruas”. Era uma espécie de resgate da pândega vivenciada em décadas passadas, quando o número de brincantes mascarados era bem maior. Antes eu lembro assim, 2001, 2002, a quantidade de Papangus que tinha em Bezerros... Assim... Era uma coisa! Aqueles grupos saindo às ruas, aquela animação. E hoje eu vejo que existe uma decadência relacionada a isso. Papangu mesmo, tradicional, tá bem menor do que antes. E isso desanima. Eu mesmo saio de Papangu estilizado, mas a gente quer ver aquele Papangu tradicional saindo às ruas e a gente quer fazer a festa com eles. (Marília Gabriela de Souza).
Realmente pude testemunhar que o tema foi vivenciado, de forma plena, naquele Carnaval de 2012. História, Tradicão e Emoção formaram realmente uma tríade, tornando a festa muito mais bela. Nas ruas, grupos exibiam seus kaftas coloridos. Os turistas foram incentivados a pegar na Secretaria de Cultura o kit para participar da pândega dos mascarados. No Concurso a brincante Marília Gabriela homenageou o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, no centenário de seu nascimento. Os turistas que circularam no domingo da Folia dos Papangus puderam presenciar as mais belas fantasias e os inúmeros brincantes, despojados, divertiram-se lado a lado, na pândega dos mascarados (Dig. 04 e 05). Embora
algum
movimento
tenha
sido
marcante,
Capítulo 8- Movimento da Tradição
o
353
depoimento de Robeval Lima, que respondia naquele momento pela Diretoria de Educação revelou que muito ainda teria de ser feito para inserir a população na luta para o resgate da tradição. Foi distribuída uma quantidade grande e as pessoas faziam um cadastro na Prefeitura e no dia iam pegar os kits [máscara e kafta]. Foi bom! Mas eu acredito que ainda não foi suficiente. O que a gente precisa fazer é trabalhar de base, na escola. Ver a questão da concientização da criança até o adolescente. Voltar a trabalhar nas escolas a questão da importância do Papangu. (Robeval Lima).
Robeval ressaltou que hoje os jovens não querem colocar uma máscara porque acham quente a fantasia do Papangu, então preferem estar com uma roupa mais leve para brincar. Entretanto reconhecendo a importância da folia para a cultura da cidade, irão cada vez mais esforçar-se para ampliar o folguedo a partir do uso de fantasias e máscaras originais. Uma educação de base pode ser a solução para ampliar a participação dos jovens e crianças na brincadeira dos mascarados. As oficinas são uma abertura para isso. Eu recentemente dei oficina de máscaras a crianças e adolescentes e eu vi assim, que eles ficaram entusiasmados com a importância que eu passei para eles. Mostrei o quanto o Papangu está reconhecido nacionalmente e internacionalmente. (Robeval Lima).
Foi notório que o Carnaval 2012 nas cidades agrestina e sertaneja gerou um movimento, uma dinâmica que envolveu muitos moradores, brincantes e turistas. A tradição viva mostrou-se, desfilou, se fez presente naqueles municípios, pela manutenção e renovação, pela adaptação e perenidade, pela criatividade e resgate. Considerada como a mais tradicional festa de Carnaval do agreste pernambucano: a
Folia
dos
Papangus,
em
Bezerros
registrou
dimensões
surpreendentes. Em 2012 nos 17 dias de festa foi computada uma participação de cerca de 500 mil visitantes. Só no domingo, dia do desfile do Bloco dos Papangus e Concurso municipal, circularam cerca de 300 mil turistas e uma quantidade de 700 homens para policiamento. Em Afogados da Ingazeira a dinâmica da festa carnavalesca foi outra, mas a preocupação com o movimento da tradição teve considerável valor, peso e dimensão. No ano de 2013 a Capítulo 8- Movimento da Tradição
354
busca pela ampliação e valorização da brincadeira foi ainda maior. Reflito, a partir dessa dinâmica, que são muitas as implicações que cercam a trama dos folguedos dos mascarados nesses dois municípios, os quais possuem ainda realidades tão diversas. É importante pensar que, quanto mais inserida está a brincadeira no contexto identitário local e regional, mais se encontra envolta na complexa problemática do turismo, da propaganda midiática, das questões comerciais e institucionais. Existem, portanto muitos fios, ramas, linhas, filamentos que constroem redes que giram em torno de coletivos e que envolvem rostos e máscaras. 8.1.2. Filamentos que Tecem: Rede Sociotécnica
[25] A produção artística contemporânea pode ser pensada de uma forma mais aberta, compartilhada, interagindo com novas concepções de tempo e espaço. Esse novo modo de fazer artístico passa a incluir o entendimento de rede e o valor da concepção de Bruno Latour da troca, da mediação, da formação de coletivos. O tempo das redes é o tempo dos fluxos com retornos, cambiações, recombinando presente e passado. É o tempo em espiral, não linear. Nesse sentido trabalhos de Arte podem ter um caráter politemporal, misturando, portanto, vários tipos de tecnologias e agrupando elementos pertencentes a todos os tempos. A obra vai, pelo conceito de rede, adquirindo novos e amplos significados: afasta-se da arte pura e perfeita, fruto do domínio de técnicas e, pelo compartilhamento, amplia a questão autoral (CAMPE, 2012).
A natureza gira, de fato, mas não ao redor do sujeitosociedade. Ela gira em torno do coletivo produtor de coisas e de homens. O sujeito gira, de fato, mas não em torno da natureza. Ele é obtido a partir do coletivo produtor de homens e de coisas (LATOUR, 2009, p. 78).
Pelo direcionamento da Antropologia das Ciências e das Técnicas os objetos podem ser percebidos, em parte, como sujeitos, uma vez que imprimem ao coletivo, mudanças em seu cotidiano, interferindo no comportamento dos indivíduos. Bruno Latour e os seguidores desse pensamento assinalam a formação de redes25 que ligam humanos e não-humanos, mistura de híbridos de natureza e de cultura. Nesse itinerário, as pessoas e as coisas ajudam a construir conhecimento. A análise de uma situação social a partir da noção de rede implica direcionar o olhar para grupos de atores envolvidos, para as atividades que empreendem, para os objetos a eles associados e que cumprem determinado papel nas associações que estabelecem entre si. (BRANQUINHO, 2012, p.137)
Entendendo as máscaras como objetos resultantes de saberes e fazeres desenvolvidos por um outro tipo de Ciência - embasada na troca de conhecimentos e técnicas passadas através de gerações-, as vejo como quase-sujeitos inseridas em uma rede de relações e atividades. É interessante registrar como a relação ator-rede foi
Capítulo 8- Movimento da Tradição
355
aparecendo, tomando forma, indicando caminhos no decorrer da pesquisa sobre os mascarados. Fui me inteirando dos elementos que constituíam essa malha multiforme, construindo as ligações que assinalavam
as
interações
entre
indivíduos
e
objetos
e
compreendendo que “uma rede não é feita de fios de nylon, palavras ou substâncias duráveis; ela é o traço deixado por um agente em movimento (LATOUR, 2012, p. 194). A cada visita ao campo, humanos e não-humanos pareciam pontos luminosos, estrelas que brilhavam em uma noite de Lua nova: formavam desenhos no céu, constelações de informações. Observava pessoas e objetos e essa pluralidade de narradores contava histórias diversas, diziam coisas- cada um a sua maneira- me fazendo adentrar em todo um conjunto que cercava as máscaras: produção, uso, comercialização, divulgação, propaganda. O prazer, a admiração, o esforço, a dedicação, a alegria, a curiosidade, a magia, tudo gerava uma catarse individual e grupal. Visualizei, assim, o nascimento, vida e mudanças desses quaseobjetos, quase-sujeitos, construtores de coletivos. Os quase-objetos quase-sujeitos traçam redes. São reais, bem reais, e nós humanos não os criamos. Mas são coletivos, uma vez que nos ligam uns aos outros, que circulam por nossas mãos e nos definem por sua própria circulação. São discursivos, portanto, narrados, históricos, dotados de sentimento e povoados de actantes com formas autônomas. São instáveis e arriscados, existenciais e portadores de ser. (LATOUR, 2009, p. 88).
A descrição da rede sociotécnica amplia a compreensão sobre a realidade social em que vivemos (BRANQUINHO, 2011). Assim é fundamental compreender que os elementos que compõem a rede não devem ser pensados isoladamente: estão ligados; envolvem-se; um interfere no outro. Mesmo guardando uma individualidade que [26] Na ilustração a representação do conjunto de elementos formadores da Rede Sociotécnica das Máscaras - em vista superior. O desenho em perspectiva esboça a ideia do redemoinho.
caracteriza cada um, eles estão juntos e misturados, como uma teia de muitos fios, ou um redemoinho em constante movimento26 (Ilustração 03).
Capítulo 8- Movimento da Tradição
356
Ilustração 03: Rede Sociotécnica: redemoinho de elementos.
Capítulo 8- Movimento da Tradição
357
As máscaras são resultado da criação. Materiais são transformados
para
sua
produção:
caminhos
traçados
pela
criatividade e técnica. Terra, Água, Fogo e Ar representam os quatro elementos inseridos na rede sociotécnica das máscaras. Eles marcam a dimensão-natureza das máscaras e fazem parte da essência, do substrato, do vínculo de cada uma delas. Acredito que eles respaldam [27] Vide Capítulo 02
a produção dessa Arte milenar27 e apresentam-se como um marco central no gráfico da rede Como em relação aos quatro elementos, o diálogo com o universo continua presente: amplia-se, mostrando o tempo cíclico que envolve a brincadeira. O ciclo lunar ajuda na formação da festa e na formatação da rede: conexão entre homem e cosmos, ligação natureza-cultura. Os grupos modelam sua organização de acordo com a ordem cósmica e a Lua determina a marcação do calendário e da pândega carnavalesca: “essa regeneração ritual, de forte carga erótica, intervém no tempo cíclico da natureza [...]” (MAFFESOLI, 1985, p.127). E assim o rito se repete no tempo que segue de forma cíclica, afirmando e reafirmando a qualidade da existêncoa societal. O êxtase, a efervescência, o páthos, a embriaguês, o exagero, tomam corpo, forma e cor, na escuridão da Lua Nova. Esta, vira uma nova face, na
[28] Máscara do Papangu. (Acervo Júlio Pontes)
máscara do brincante28. Muito significativos na rede sociotécnica são os temas recorrentes que marcaram os folguedos e continuam a traçar os novos itinerários da brincadeira. O medo, a vaidade, o prazer e o segredo são fios que costuram os retalhos da manta festiva: o trabalho e a paixão. Eles acionam as lembranças e desenham as narrativas. O Carnaval e sua história em cada município de Pernambuco; os folguedos dos mascarados com suas especificidades; os brincantes com seus desejos e aspirações, os moradores de cada cidade que abraçam os representantes de sua cultura: tudo forma um conjunto que direciona a elaboração e execução das máscaras, envolvendo e sendo envolvido pelos temas recorrentes. Surgem assim os objetos-sujeitos com formas, temas, cores, texturas, criados a partir do conhecimento transmitido, técnicas Capítulo 8- Movimento da Tradição
358
repassadas, relações estabelecidas entre aprendizes e mestres. É a troca de sentimentos e ações que permeiam o desenvolvimento de uma [29] Vide Capítulo 02
Arte germinada no solo do vivido29. Nessa rede de muitos filamentos destaco os artesãos-artistas. Estes constituem peças fundamentais para o entendimento dos folguedos, a vida das máscaras, o movimento da tradição. Cada um desses profissionais consegue definir claramente o momento e o motivo de sua entrada no mundo da Arte das máscaras e pelas suas narrativas passei a delimitar grupos que apresentavam similaridades quanto a essa trajetória. Seguindo os depoimentos observei que muitos artistasartesãos foram impelidos a iniciar nesse ofício por serem brincantes desde criança. Elaboravam a indumentária e produziam as máscaras, reconhecida por eles como o mais importante elemento da brincadeira. Com o passar do tempo, aprimoraram saberes e fazeres, tornando-se exímios nessa Arte milenar. Eu comecei a fazer máscara porque desde criança eu me identificava muito com a cultura do Papangu. Meus pais saíam. Só que na época eu era criança e tinha medo. Depois eu comecei a perder aquele medo que o povo fazia e comecei a sair depois, com meus 15 anos. (Cícera dos Santos).
Alguns herdaram de parentes ou aprenderam com amigos próximos a técnica de manuseio dos materiais, a forma de lidar com as tintas, o aprimoramento no uso das cores. A vida traçou itinerários para que seguissem, então, um caminho construído através de gerações. O mestre Lula Vassoureiro é um exemplo dessa passagem de ensinamentos: do avô para o pai, do pai para o mestre e do mestre para o filho. Destaco que nesse processo de ensino-aprendizagem alguns artistas-artesãos aprimoraram os conhecimentos adquiridos pelo compartilhamento coletivo, imprimindo uma marca própria em seu trabalho. Murilo Albuquerque é um deles. Aprendiz de Sivonaldo Araújo o jovem artesão trabalha a nove anos, dedicando-se a Arte das máscaras em papel machê, com uma estética do Belo. Hoje é reconhecido em Bezerros e em alguns locais do Brasil pelo primor de Capítulo 8- Movimento da Tradição
359
[30] Murilo executou as máscaras para o desfile dos Papangus na Escola de Samba do Rio de Janeiro e foi convidado pela Rede Globo para a confecção das máscaras usadas na novela Cordel Encantado, em uma cena em que os artistas se fantasiaram de Cazumbá., que é um personagem do Bumba-meu boi do Maranhão. A máscara tem forma animalesca e a indumentária é geralmente uma túnica com bordados alusivos a santos católicos. É um ser fantástico, assexuado, híbrido de homem e animal. No auto do Boi ele é um personagem satírico e medonho que assusta quem quer roubar o Boi.
sua elaboração e criatividade30 (Fig.02; Dig. 06). Como Murilo, outros tantos encontraram nessa labuta o sustento e a possibilidade de sobrevivência. Como ele, alguns nem imaginavam que esse seria seu caminho de realização. Mas como afirma Nietzsche, “nossa vocação toma conta de nós, mesmo quando não a conhecemos; é o futuro que dita a regra a nosso hoje” (2006, p. 27). Dispensei, durante a pesquisa, uma atenção especial ao trabalho dos artesãos-artistas das máscaras, seus locais de trabalho e as relações estabelecidas nos ateliês. Tentei detectar o diálogo entre a Arte erudita e os artistas populares, percebendo as técnicas e instrumentos usados na confecção das máscaras. Pelas histórias de vida dos mestres, através das lembranças e esquecimentos desses multiplicadores do conhecimento, almejei visualizar a própria história das brincadeiras. Neste processo de buscas aprendi muito com mestre Lula Vassoureiro e o mestre Beijamim Almeida. Nos espaços de produção das máscaras, ateliês, fundos de quintal, galpões, compreendi a importância de se fazer uma etnografia dos objetos técnicos e/ou científicos e nesse sentido identifiquei a máscara como esse objeto que fala. Nesse conjunto de objetivos, tentei experienciar um trabalho pautado na simetria. Nesses termos, “cumpre não somente tratar nos mesmos termos os vencedores e os vencidos da história das ciências, mas também tratar igualmente e nos mesmos termos a natureza e a sociedade” (LATOUR; WOOLGAR,
[31] A dualidade antitética homem/animal, cultura/natureza esbarra contra uma evidência simples e significativa: homem vive na cultura, mas trazendo em si a natureza (MORIN, 2000). Ampliando essa quebra de hierarquia devemos visualizar a simetria entre humanos e não-humanos, formadores do coletivo (LATOUR, 2012
1997, p. 2431). O artesão-artista é um valoroso elemento na rede sociotécnica das máscaras. Seu lugar de trabalho também. Em Bezerros muitos desenvolvem uma labuta diária em casa, em locais improvisados, criando e executando as máscaras sobre mesas existentes em alpendres, cozinhas e áreas de serviço. Alguns ampliam esse espaço, para tornar possível a visitação de turistas e moradores para divulgação e aquisição de sua produção. A denominação ateliê sugere exatamente esse tipo de local de trabalho usado tanto para fazer, quanto para comercializar os produtos. Nos depoimentos dos próprios artesãos há o reconhecimento do ateliê como o local de trabalho de Capítulo 8- Movimento da Tradição
360
um profissional mais estabelecido, identificado como artista. Decidi, em abril de 2012, elaborar um mapeamento dos artesãos-artistas das máscaras dos Papangus, pois percebi que em Bezerros existia uma grande estrutura em torno do trabalho de elaboração e comércio desses quase-sujeitos, não apenas no Carnaval, [32] A Associação dos Artesãos de BezerrosAAB- tinha 14 anos de existência e contava com cerca de 54 artesãos-artistas que faziam criações nas mais diversas modalidades
mas durante todo o ano (APÊNDICE H). Para que isso fosse possível, procurei a ajuda da Associação dos Artesãos de Bezerro32, presidida pelo Sr. José Pedro, conhecido como Zé Pedro da Associação. Com a sua ajuda conheci um pouco mais sobre o trabalho da Associação e a atividade conjunto daquelas pessoas que estavam sempre prontas para explicar, ensinar, promover a sua Arte (Dig. 07). Não eram apenas máscaras que nasciam daquelas mãos habilidosas e das mentes criativas dos associados: bonecas de pano e fuxico, brinquedos em madeira, objetos decorativos, bolsas, xilogravura, bordado, tramas em macramê, crochê, cerâmica, frutas em cera e parafina, biscuit, entre outros artesanatos em diversos materiais. Funcionando na antiga Cadeia Pública, o espaço exalava criatividade de cores e formas variadas. Os objetos estavam à mostra, prontos para serem comercializados. As máscaras representavam a grande maioria na exposição: muitas para serem usadas na face e outras tantas com função apenas decorativa. Alguns artesãos-artistas iniciavam sua peregrinação diária na Associação, trazendo mercadorias e conversando alegremente sobre seu trabalho. O prazer era sentido fortemente nas narrativas emocionadas daquelas pessoas, que encaram o trabalho também como uma terapia, um sentido de vida. Ah! É muito prazeroso. É porque é assim. Até porque assim eu tô levando a cultura de Bezerros, uma coisa que eu gosto. E assim você criar, você pintar, você ver o seu trabalho. Você ver assim o turista chegar, elogiar você, a gente saber sobre a cultura daqui do Papangu e a gente saber falar. É muito satisfatório. Para mim eu acho, muito satisfatório. Um orgulho muito grande prá mim. (Cícera dos Santos).
[33] Dessa maneira após a colagem do papel sobre a forma e retirada da máscara, não era colocada massa para acabamento.
Cada um imprimia um estilo em sua arte. Cícera executava máscaras de uma forma muito rústica, deixando as marcas do papel colê, sem emassamento33. Reconhece o valor do seu trabalho. Capítulo 8- Movimento da Tradição
361
Ela é prá manter a tradição mesmo. Emassado é bonito, é, mas é mais para decoração. Até porque assim ela é uma máscara mais pesada, se ela cair corre o risco de quebrar, rachar e o de papel colê não. Ela pode cair. Tanto ela é leve quanto ela não quebra. (Cícera dos Santos)
A execução das máscaras indicou um momento importante na rede dos quase-sujeitos. Outro valioso aspecto inserido na composição era o comércio das máscaras (Fig. 04). Existem artesãos-artistas que vivem da comercialização de sua arte, mas sempre deixam notar, nas entrelinhas de suas narrativas, o orgulho que sentem pelo reconhecimento de seu trabalho, mais importante que o próprio lucro. Assim, eu não saio [fantasiada de Papangu] mais por conta que eu trabalho. É assim, quando no Carnaval a gente trabalha nos três dias de Carnaval, que a gente coloca barraca, eu coloco, mas meu esposo sai e meus sobrinhos saem. (Cícera dos Santos).
O trabalho de execução e venda das máscaras indica, para muitos, a sobrevivência, o custeio das necessidades diárias e, também a realização pessoal, o reconhecimento profissional: “eu quero é seguir uma trilha que eu ganhe dinheiro e sinta prazer” (Josy dos Santos) (DIG.08). O comércio de máscaras existe durante todo o período do ano em Bezerros. A identidade construída a partir do folguedo dos Papangus possibilita a visitação de turistas, que procuram os ateliês para a aquisição de souvenirs: máscaras para uso e também para decoração. O período que antecede o Carnaval e os dias de festa são catalizadores de público e do aumento das vendas. Nos dias de festa a cidade é invadida pelos comerciantes, que exibem os seus produtos para chamar a atenção dos milhares de visitantes: não apenas as máscaras, mas alimentos, bebidas, artesanatos diversos, fantasias. Os comerciantes aproveitavam a oportunidade para ampliar a renda.
[34] Comerciante 53 anos
Essa festa é a melhor festa que nós temos no período do ano. O comércio é mais o turista. Porque os moradores daqui já compram em mercado. É mais o turista porque o pessoal daqui é quase nada. Quase todo mundo [transforma a casa em comércio]. Quem deixa a casa fechada é porque é evangélico ou tem muito dinheiro. Quanto à renda do Município, aumenta 30 Capítulo 8- Movimento da Tradição
362
vezes mais. Porque Bezerros é uma cidade muito grande, mas sem indústria e sem comércio. Então nós ficamos esperando o São João, ficamos esperando o Carnaval. O tempo de festa porque de resto, infelizmente a cidade é parada. (Fernando Torres34).
Durante o ano muitos artesãos-artistas também participam de feiras de artesanato onde as máscaras são sempre muito procuradas. O comércio está diretamente atrelado à dimensão da festa. Em Afogados da Ingazeira a dimensão é significativamente mais reduzida que em Bezerros, pois a procura de máscaras é restrita praticamente aos brincantes locais. As máscaras de látex são a preferência dos Tabaqueiros. Entretanto ainda existe uma procura pela produção artesanal confeccionada pelo mestre Beijamim. Seguindo a trama que envolve as máscaras destaco a indústria do turismo. O fenômeno turístico necessita ser abordado de forma ampla e analisado do ponto de vista histórico, psicológico, econômico e antropológico, num constante exercício de respeito à alteridade e ao ambiente circundante (BARRETTO, 2001). Essa importância da presença dos visitantes é reconhecida pelos brincantes, moradores, comerciantes e artesãos-artistas. “A cidade que não tiver o turismo tá apagada. É como um cara que falta uma perna. Tem que usar uma muleta.” (Lula Vassoureiro). O turismo existente em torno da festa carnavalesca faz com que a cidade recebedora do visitante se mobilize, mude suas paisagens, seus tempos, seus espaços. Hotéis, pousadas, bares e restaurantes, segurança e serviços: tudo gira em torno da dimensão da pândega dos mascarados. Bezerros recebe a cada ano cerca de 500 mil turistas. Imagine essa realidade interferindo em um cotidiano interiorano! A presença dos visitantes atinge diretamente a elaboração e produção das máscaras, indicando caminhos para permanências e mudanças da estética, da temática, da elaboração do artista. (Dig.09) Porque é o seguinte. O visitante que é o que a gente chama turista... o turista não quer saber de máscara de 100 anos. Ele quer saber de uma coisa bonita. Então eu trabalhei muitos anos com as tradicionais máscaras. No Centro de Artesanato de Bezerros tem o maior painel de máscaras do Mundo, então eram aquelas máscaras Capítulo 8- Movimento da Tradição
363
que eu fazia. Então aquilo ali no Carnaval ainda vendia dez ou uma e o turista vinha e comprava a estilizada. Então um amigo de Olinda disse „Lula. Tá bom de tu mudar teu trabalho porque o turista é bicho...‟ Olhe tem que ter cuidado com o turista porque o turista se ele não gostar de uma coisa... Ele traz 10 mil, mas também se ele não gostar de alguma coisa e sair espalhando... deixa de vir 100 mil prá nossa festa. Rapaz eu vou fazer! E hoje o meu trabalho...tem trabalho ali que até é duvidado, o povo pensando que é porcelana. (mestre Lula Vassoureiro).
Segundo o depoimento, o mestre Lula sentiu a necessidade de acompanhar a demanda do turismo, inserindo-se numa estética mais detalhada, bem acabada, admirada pelo visitante. A tradição é atingida diretamente pelas tensões que cercam a .
máscara e a rede formada no seu entorno. Tudo gira em volta dos sujeitos-objetos e dos indivíduos inseridos na folia: envolve humanos e não-humanos numa relação coletiva. Nesse contexto, a máscara muda não só a face do brincante, mas a cara da cidade e mobiliza a gestão institucional, a propaganda midiática, a indústria cultural, outros fios formadores da rede. Nesse ano de 2011 já saiu de uma vez só 700 Papangus. Em toda a rua hoje não tem os Papangus que a gente tinha antigamente... porque também é em troca da festança que nós temos hoje, dentro da cidade, no pólo, que hoje tem vários palanques e na época a gente não tinha. (mestre Lula Vassoureiro).
As mudanças chegam e acionam o movimento da tradição. É o preço pela ampliação da festa, como reconhece o mestre Lula. Mesmo cultivando saberes consolidados, há, [nos folguedos] todo um investimento no sentido de também incorporar novidades numa configuração de equilíbrio instável, o que denota a consciência aguda da necessidade contínua e refinamento do conhecimento, de seu caráter inacabado, impermanente. (NOGUEIRA, 2008, p.35). :
A ampliação da visibilidade do Carnaval interfere na gestão
municipal e apoio estadual. “O turista vem prá Bezerros para ver o Papangu. E se a gente deixar o Papangu morrer como é que vai ficar o turismo em Bezerros, né?” (Robeval Lima). No Carnaval, a cidade transforma-se em espaço de
Capítulo 8- Movimento da Tradição
364
espetáculo. O teatro é um edifício que tem o espaço interior servindo para duas funções: ver e fazer-se ver. O público está na sala para ver e os atores no palco para serem vistos. “O teatro é por essência presença e potência de visão - espetáculo -, e enquanto público, somos antes de tudo espectadores [...]”, (ORTEGA Y GASSET, 1996, p.32). Quando entendo a cidade como um grande teatro suponho que essas funcionalidades continuem a existir: os moradores e visitantes nas ruas para assistirem ao grande espetáculo existente na cidade em festa. Os brincantes mascarados desfilam nos logradrouros, praças e palcos desejosos por serem vistos. Entretanto na cidade, na festa, no Carnaval, os espectadores, visitantes e moradores também entram em [35] O projeto Pedagogia do Espectador, liderado pelo Flávio Desgranges, diretor teatral e doutor em educação, visa diminuir a distância dos espectadores em relação à prática teatral, sua linguagem, processos de criação. (DESGRANGES 2003).
cena, sendo espectadores-participantes (DESGRANGES, 2003). Usam adereços, pintam os rostos, colocam máscaras multiformes, ficam coloridos e brilhantes, para serem também personagens- talvez figurantes da grande cena vivida em cada lugar. Deixam de ser passivos frente à realidade que se apresenta35. Participam e sentem prazer em ver e serem vistos. Todos compõem esse Ultramundo, ou Ultravida que é o Carnaval. Apesar de todos os seus cordões, o carnaval não é festa de nós e, sim, de eus enormes que pulam e brincam. Os outros são outros eus. Cada um constrói a sua parságada particular e tem uma relação efêmera como não consegue nos outros dias. (HÉLIO, 2001).
Os Concursos dos mascarados mobilizam a propaganda midiática. A espetacularização interfere na brincadeira, atingindo brincantes e moradores, envaidecidos com a construção identitária a partir dos personagens dos folguedos. Como uma via de mão dupla, quanto mais intensa a identidade está atrelada aos personagens da Cultura da Tradição, mais dinâmico o processo de ampliação e divulgação das brincadeiras (Dig. 10). Os quatro elementos; o ciclo lunar; os temas recorrentes, o Carnaval, brincantes e moradores; os artesãos-artistas em seus locais de trabalho; o comércio; a indústria de Cultura e de Turismo; as Instituições e gestores, todos e cada um, desenharam o conjunto
Capítulo 8- Movimento da Tradição
365
constituinte da Rede Sociotécnica das Máscaras. De acordo com Latour um bom relato é aquele que tece uma rede formada por agentes em movimento. Seguindo essa diretriz, tentei visualizar as máscaras, leválas em conta, perceber seus traços, ingressá-las nos relatos, perseguir seus rastros e compreender os incontestáveis entrelaçamentos entre humanos e não humanos. A partir da etnografia das máscaras foi possível chegar ao traçado da rede sociotécnica e tornar visíveis as cadeias de atores, mediadores, desenhando as interações que provocam transformações: redes de associações.
Capítulo 8- Movimento da Tradição
366
[Fig. 01] Os Rabos de Cuia exibem-se na Praça da matriz. (Acervo Beijamim Almeida).
[Fig 02] Oficinas: aprendizagem compartilhada. (Acervo Beijamim Almeida)
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
367
[Fig 03] Murilo Albuquerque e sua produção para o desfile do Rio. (Acervo Murilo Albuquerque)
[Fig04] O comércio de máscaras favorece a produção dos artesãos-artistas. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
368
Conta a lenda que 50 tripulantes da nau Argó, construída por Argos, formaram uma expedição para Cólquida, a atual Geórgia, em busca do Tosão de Ouro, pele preciosa de um carneiro alado. Liderados por Jáson, enfrentaram tempestades, venceram monstros e seguiram viagem por inúmeros lugares até o seu destino. Os argonautas foram atraídos para essa façanha pelas mensagens enviadas a toda a Grécia, anunciando a organização da viagem. Os heróis participantes tiveram, cada qual, uma função específica, dependendo de suas habilidades. Orfeu, que possuía o dom da música, teve a tarefa de cantar, cadenciando o trabalho dos remadores e enfraquecendo os cânticos mágicos das sereias. Ídmon e Anfiarau, renomados advinhos, fizeram previsões em busca dos bons presságios. Érgino, filho de Poseidon, pediu proteção ao pai contra as águas turbulentas e ameaçadoras das tempestades. E assim, todos e cada um desenvolveram diferenciadas tarefas. O grupo seguiu viagem: muitos territórios foram conhecidos e conquistados, imortalizando esses heróis mitológicos (KURY, 2008).
Capítulo 8- Movimento da Tradição
369
8.2 Categorização das Máscaras: o Imaginário a Olhos Vistos. Andar pelas ruas de Bezerros e Afogados da Ingazeira no Carnaval foi como adentrar nos livros de contos de fada; assistir filmes de ficção, de terror, de época; voltar no tempo e ter a possibilidade de conviver com personagens históricos; participar de espetáculos circenses, de apresentações de artistas de rua: beber do néctar da criatividade, da ousadia, da comicidade, da beleza e da irreverência, compartilhando coletivamente do movimento carnavalesco. Viver esses Carnavais foi como ser transportada para um mundo de sonhos, povoado por figuras híbridas que aliavam o Feio ao Belo. Visualizar os registros fotográficos veiculados na internet, conhecer a bibliografia específica sobre a Cultura da Tradição, ler os e-mails recebidos por tantos informantes, ouvir os depoimentos nas cidades visitadas foi vivenciar uma oportunidade ímpar e conhecer um universo polimorfo, polissêmico, multicolorido e complexo. No campo e nos registros, as máscaras iam aparecendo à minha frente, a cada Carnaval, a cada leitura, a cada novo estudo. Sob um misto de encantamento e prazer, eu bordava um tecido construído por dezenas de dados, imagens, depoimentos, reflexões, lembranças: memória individual e coletiva; tradição perene e mutável. Como Aracne, eu me transformei numa fiandeira de minha própria teia, usando verdadeiramente os fios que tecia no decorrer da pesquisa. Como uma boa artesã, ao mesmo tempo em que percorria todo o caminho metodológico para a obtenção dos dados, visando a viabilização da Cartografia dos mascarados pensava quão importante era a questão que incidia sobre a problemática da definição das categorias usadas para a elaboração de um quadro síntese das máscaras. Uma classificação é sempre arbitrária, nem por isso pode ser tida como de menor importância, pois revela uma forma de pensar sobre os diversos elementos trazidos pelo próprio campo. Nesse sentido, Jorge Luis Borges (2007) registra as várias arbitrariedades usadas em
diferentes
tipos de
categorização presentes em Capítulo 8- Movimento da Tradição
370
enciclopédias, idiomas, gramáticas, afirmando “[...] que não há classificação do universo que não seja arbitrária e conjetural” (BORGES, 2007, p.124). Para ele a razão disso é muito simples: não sabemos que coisa que é o universo. Segundo David Hume, o mundo é um esboço rudimentar de algum Deus infantil, obra de um Deus subalterno, cujos deuses superiores zombam, ou talvez uma produção confusa de uma divindade decrépita e aposentada. Não há um universo num sentido orgânico, unificador, ou, se existe, não se sabe seu real objetivo, seu propósito. Falta, assim, conjecturar sobre as palavras, definições, etimologias, sinônimos, do secreto dicionário de Deus (HUME, 1779, apud BORGES, 2005). Borges, contudo, afirma que a impossibilidade de penetrar no esquema divino do universo, não pode nos desencorajar a planejar esquemas humanos, mesmo sabendo que são provisórios. Quando definimos as categorias estamos, na verdade, elencando símbolos arbitrários, finitos e vagos. São artifícios, carregados de ambigüidades, redundâncias e
deficiências,
mas essenciais para
definir as
representações do homem frente ao universo que o cerca. Não se tratava de uma simples identificação e classificação, como determinam os estudiosos da natureza ao desenvolverem a taxonomia de vegetais, minerais e animais, com o objetivo de perceber suas morfologias. “As formas culturais não revelam a mesma homogeneidade e regularidade que a transmissão genética, as unidades sociais não são tão claramente recortadas, descontínuas e permanentes como os gêneros e espécies naturais” (OLIVEIRA, 1998). Nesse sentido, desejava me afastar de formas lógicas, fixas e imutáveis de classificação. Vislumbrava captá-las dentro de uma dinâmica de mutabilidade, de movimento e, consequentemente, num processo de elaboração constante. Era fundamental compreender as categorias empíricas, que servem de ferramentas conceituais e que ajudam, como assinala Levi-Strauss (1989), o pensamento a pensar bem. Levando em consideração essas reflexões, fixei o meu olhar sobre a realidade trazida pelo campo. A observação nos Carnavais, as Capítulo 8- Movimento da Tradição
371
revelações bibliográficas nas pesquisas do universo virtual, as visitas fora do período da festa, a pesquisa elaborada pelo contato com as Prefeituras dos municípios das Regiões de Desenvolvimento, os dados colhidos nas entrevistas, depoimentos, leituras e a partir de minha própria concepção, tudo foi importante para que conseguisse definir as categorias. O campo revelou um amplo mundo de possibilidades de categorização e por essas indicações tentei desenhar um caminho que me ajudasse a perceber, de forma abrangente, a riqueza estética e simbólica das máscaras da Cultura da Tradição pernambucana. Mais que chegar a uma classificação ou síntese, busquei evidenciar a multiplicidade e polissemia trazida da realidade observada na pesquisa. Criei o quadro das categorias através de um número reduzido de exemplos em relação ao universo das máscaras. Acredito, porém, que o suficiente para mostrar as possíveis variedades e expressões presentes nas diversas regiões do Estado, nesses últimos anos em que desenvolvi a pesquisa. Dessa forma, as categorias constituintes do quadro foram formatadas usando-se termos muitas vezes usados corriqueiramente como sinônimos, mas que, no contexto das brincadeiras, carregavam sutis diferenciações: conceitos que faziam parte do vocabulário do senso comum para referirem-se ao universo do grotesco, ao cosmos do imaginário, a elementos ligados ao mundo sagrado. Mircea Eliade (1992) esclarece que ao nos referirmos aos termos sagrados, tomamos de empréstimo os vocábulos relativos ao domínio natural, ou à vida espiritual profana do homem. “Mas nós [1] Rudolf Otto em seu livro Das Heilige (1917) aborda sobre o gans andere como algo relativo ao sagrado, àquilo que foge de qualquer explicação natural, ligado aos mistérios e fascinações luminosas, divinas (apud ELIADE, 1992).
sabemos que esta terminologia analógica é devido, justamente, à incapacidade humana de exprimir o gans andere1a linguagem apenas do homem mediante termos tirados desta mesma experiência natural” (ELIADE, 1992, p. 24). Maria Clara Lucas também ressalta o valor dessas percepções vindas do mundo terreno para definir e criar aspectos e entidades sobrenaturais, tão presentes no imaginário humano. Não se criam entidades fantásticas, apenas se elevam as entidades terrenas a um grau de perfeição inexistente Capítulo 8- Movimento da Tradição
372
sobre a terra. Desta forma os elementos cotidianos surgem revestidos de tais qualidades que a escala humana de valores não se revela bastante para avaliar. Eles superam tudo aquilo que o homem algum dia conheceu e que a palavra humana pode exprimir. (LUCAS, 1989, p. 99).
Assim as categorias foram tomando forma, cor, corpo, dimensão durante a construção do acervo fotográfico da pesquisa. Ressalto que a máscara foi percebida realmente como o elemento mais importante da indumentária do brincante. Esse quasesujeito dá “a cara” ao personagem vivido na brincadeira; é destaque em relação ao conjunto da fantasia; é olhado e admirado, não escondendo a emoção do brincante em sua totalidade: os olhos brilham sobre os orifícios das máscaras. Em alguns casos a nova face dialoga incessantemente com o restante da fantasia, pois a ela estão atrelados complementos, que fazem parte da temática vivenciada. Como resultado de toda a observação e reflexão foram formados os seguintes grupos de categorias abaixo especificados: Demoníaco/ Diabólico: referente ao diabo, aos demônios e aos seres infernais. Muito presente a cor vermelha na máscara, os dentes pontiagudos e os chifres. Sobrenatural/ Fantasmagórico/ Assombroso: fazem menção a um mundo espiritual, aos elementos que lembram a morte, fantasmas e almas. Histórico: relativo a personagens consagrados, conhecidos por feitos ou mencionado por sua importância na história. Heróico: referem-se às figuras que denotam heroísmo, coragem. Lendário/ Fabuloso/ Mitológico/Mágico: relacionados aos seres que povoam as fábulas, os romances, as lendas e os mitos. Totêmico: alusivo ao totemismo. Junção de forma animal, vegetal, dos astros e humana. Contemporâneo/ Tecnológico/ Fictício: personagens de ficção, com suas máscaras reluzentes. Algumas figuras revelam a criatividade pelo uso de materiais reciclados. Monstruoso/Horrendo: com faces disformes. Com aspecto repugnante, essas figuras chocam pela aparência. Capítulo 8- Movimento da Tradição
373
Étnico: alusivo aos grupos ligados a etnias. Os negros são muito referenciados, sendo representados com um exagero caricatural dos traços da face, como nariz e lábios. As mulheres trazem características do grotesco, com seios e nádegas avantajadas. Regional: com características de uma região específica. Marcam uma identidade. Satírico/Caricatural/Hilário: figuras galhofantes, jocosas, que provocam o riso. Majestoso/Magnífico/Glamoroso: chamam a atenção pela riquesa, pompa, glamour. Comemorativo/ Alusivo: figuras que homenageiam algo (lugares, times de futebol). As máscaras fazem referência a identidades construídas, através de símbolos, cores e brasões. Animalesco / Híbrido: com qualidades estéticas dos animais e do homem. Geralmente há o uso de adereços humanos. É interessante destacar que os heróis ou super-heróis e também alguns personagens fantasmagóricos e demoníacos possuíam atributos que lhes conferiam poderes e complementavam a estética das máscaras. As asas, capas ou mantos lhes permitiam voar: “O „voo‟ significa o acesso a um modo sobre-humano (deus, mágico, espírito, em última instância a liberdade de se mover à vontade, portanto uma apropriação da condição do „espírito‟” (ELIADE, 1992, p.183) Percebi que o diálogo com a literatura, o cinema, a televisão, o mundo digital, interferiram e direcionaram a escolha e elaboração das máscaras e a confecção das fantasias, percorrendo caminhos do monstruoso, do satírico, do lendário e do heróico, O cinema, esta fábrica de sonhos, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos: a luta entre o Herói e o Monstro, os combates e as provas iniciáticas, as Figuras e as Imagens exemplares (a „Rapariga‟, o „Herói‟, paisagem paradisíaca, o „Inferno‟, etc.) (ELIADE, 1992, p.212).
O satírico aproximava-se do que é risível, jocoso, mas não necessariamente obsceno: algo que despertava o riso de forma sutil. O horrendo trazia a deformidade, a monstruosidade, que podia indicar algo horripilante e até nojento. Sangue que escorria das faces; olhos
Capítulo 8- Movimento da Tradição
374
esbugalhados, bocas babadas entreabertas, peles verrugosas e dentes podres: um conjunto ao mesmo tempo repugnante e atraente. As figuras mitológicas retratadas nas máscaras tinham o acompanhamento de bonecos que ajudavam na elaboração do universo simbólico que os envolvia: São Jorge e o dragão andaram alegremente pelas ruas de Bezerros. E assim o universo que cercava o folguedo dos Papangus encantava a cidade, ampliando o rio caudaloso do imaginário humano. Um homem unicamente racional é uma abstração; jamais o encontramos na realidade. Todo ser humano é construído ao mesmo tempo pela sua actividade consciente e pelas suas experiências irracionais. Ora, os conteúdos e as estruturas do inconsciente apresentam similitudes surpreendentes com as imagens e as figuras mitológicas. (ELIADE, 1992, p. 216).
O uso da categoria totêmico brotou de um sentimento aflorado no campo, quando percorria as ruas de Bezerros no Carnaval de 2011. Ao ver o grupo de Papangus com máscaras de estrelas logo fiz uma ligação com a imagem de totens vivos, uma relação direta entre homem /natureza. Em diversas tentativas de conceituação nota-se o totemismo referindo-se à ligação entre grupos e suas relações com determinadas [2] Segundo Lévi-Strauss, W. Rivers, em 1914, define o totemismo como a conjunção de um elemento social (conexão de espécie animal ou vegetal, ou objeto inanimado, ou classe desses objetos a um grupo definido da comunidade, grupo exogâmico ou clã); um elemento psicológico (crença numa relação de parentesco entre membros de um grupo e um animal, vegetal ou objeto, numa relação de filiação); e um elemento ritual (respeito ao animal, vegetal ou objeto, manifestado na questão de não comer o animal ou planta e não utilizar o objeto).
classes de seres inanimados ou animados2. O termo totemismo engloba relações existentes entre o universo natural (categoria ou indivíduo) e cultural (grupos e pessoas). Lévi-Strauss (1975) destaca a relevância de compreendermos sobre a importância do reino vegetal e animal para o homem, pois esses universos não foram usados só porque existem, mas porque propõem um método de pensamento humano. Mesmo sendo em outro contexto totalmente diferenciado, o uso de máscaras carnavalescas que referenciavam elementos da natureza, seres animados, ligação com o cosmos, sinalizou uma ligação com a da Arte totêmica, indicando a formação dessa categoria. Em relação aos outros tópicos constituintes do quadro Categorização das Máscaras existem algumas considerações que me parecem pertinentes para o seu entendimento geral. Município/Região: indica o município no qual foi encontrada a Capítulo 8- Movimento da Tradição
375
máscara exemplificada e que região de desenvolvimento está inserida. Neste caso, trago os exemplos fotográficos colhidos apenas nos municípios de Bezerros e Afogados da Ingazeira, referencial empírico da pesquisa. As máscaras encontradas nessas cidades serviram como uma pequena amostra, uma base para outras tantas existentes nos municípios do Estado. Mascarado: refere-se à denominação da brincadeira/brincante no município hoje. Foto/Acervo: revela o registro fotográfico e faz referência à fonte onde foi obtida a foto. Participação: destaca o momento do registro do brincante nas ruas (individual, dupla, trio ou grupo). Material: matéria básica usada na execução da máscara. Nesse item observei o material usado como base, suporte, substrato da máscara e não o referente ao acabamento e acessórios (tintas, lantejoulas, fitas, flores). Personagem: indica uma primeira percepção trazida pela visualização da máscara; aquela imagem imediata suscitada ou que foi explicitada pelo brincante ao ser entrevistado3. Imaginário: assinala o universo simbólico que envolve a máscara, percebida por mim na observação ou fruto dos depoimentos [3] Na maioria das vezes não houve possibilidade de conversar com o mascarado no momento do Carnaval. Sempre foi meu objetivo respeitar o tempo da brincadeira e o silêncio dos brincantes. Em alguns casos consegui “falar” com o mascarado e “ouvi-lo”, por trás da máscara. Em diversas situações as máscaras falaram, elas próprias, da intencionalidade de seus usuários.
dos próprios mascarados. Estética: revela em qual universo está inserida a máscara, dentro de padrões estéticos da Beleza do Feio ou da Beleza do Belo. Enfim, reitero que o quadro Categorização das Máscaras é apenas uma pequena mostra que poderá ser ampliada com a inserção de inúmeros outros exemplos de máscaras existentes nos municípios pernambucanos. Diversos registros viriam a enriquecer as categorias elencadas e outras categorias ampliariam o leque de possibilidades de registros. Nesse sentido, percebo esse quadro como um embrião, algo vivo, em movimento, como os próprios folguedos dos mascarados.
Capítulo 8- Movimento da Tradição
376
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
377
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
378
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
379
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
380
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
381
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
382
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
383
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
384
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
385
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
386
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
387
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
388
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
389
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
390
8.2.1 Do Local ao Universal: Campo no Além-mar Como nas cidades pernambucanas, as máscaras do mundo contam histórias, criam conceitos, adaptam-se aos contextos, envolvem os indivíduos, falam de uma tradição que se preserva e se renova, constroem as identidades dos lugares. Provocam medo, envaidecem, criam segredos, dão prazer. Fiz essa comprovação, seguindo viagem ao encontro de outras realidades, tão distantes e tão próximas. Em julho de 2012 tive a oportunidade de realizar um sonho e uma determinação: visitar Veneza e outras cidades italianas que pudessem me dar mais subsídios sobre a Arte das máscaras. Aqueles foram “instantes eternos”, reforçando a ideia de que: Em certos momentos, o tempo parece deter-se. Suspensão que permite gozar o que se apresenta. Imobilidade que pode vir junto com o desejo de intensidade. Ritmo tanto mais desenfreado quanto parece imóvel. (MAFFESOLI, 2003, p. 98)
Cheguei à Veneza no dia 03 de julho de 2012. Às 18h a intensidade do sol na cidade italiana podia ser comparada às mais quentes tardes do sertão pernambucano. A alta temperatura não afugentava os turistas que circulavam pelas ruas entrecortadas por pontes ou lotavam barcos e gôndolas que seguiam sobre os brilhantes [4] Na Arte em Cuoio, molda-se o couro sobre uma base. Deixa-se cru ou aplica-se pintura. Cartapesta é uma técnica que consiste em recobrir uma base, ou molde, com pedaços e papel e cola. Quanto maior o número de camadas, mais resistente ficará a máscara. Após secagem, retira-se do molde e cortam-se as bordas e aberturas dos olhos. Camadas de base e tinta dão o acabamento. É semelhante ao que chamamos no Brasil de papietagem.
canais de águas revoltas pelo movimento dos transportes aquáticos. Aquele era um cenário festivo, em que moradores, visitantes de diversas partes do mundo e as máscaras, preenchiam os espaços, colorindo o lugar. Era emocionante perceber que os quase-sujeitos e todos aqueles indivíduos de línguas diversas exibiam suas polimórficas faces, criando uma espécie de teia de emoção. A todo o momento os turistas entravam e saíam das lojas, repletas de vitrines que exibiam máscaras dos mais variados tipos. Trabalhos em cuoio ou cartapesta4, pintadas e decoradas com metais e pedrarias chamavam a atenção pelo requinte e detalhamento. Muitas outras, pintadas e ornadas sobre base plástica tinham um acabamento menos elaborado e, em grande Capítulo 8- Movimento da Tradição
391
número, enchiam os quiosques nas ruelas de Veneza. Eu, motivada pela curiosidade, fazia os primeiros registros fotográficos e tentava entender a grandiosidade daquele universo mágico (Dig. 01 e 02). Observando os pontos de comercialização, era notória a existência de realidades distintas. Nas lojas mais sofisticadas e em alguns quiosques localizados em pontos estratégicos da cidade, era marcante a presença das máscaras mais elaboradas, fruto do trabalho de artesãos-artistas que primavam pelo uso de materiais e técnicas tradicionais. Nesses locais os próprios artesãos comercializavam seus produtos e faziam questão de confirmar a originalidade de sua Arte através dos depoimentos, dos folders veiculados para os turistas em diversas línguas e dos pequenos impressos ou carimbos colocados na parte interna das máscaras: “Autêntica lavorazione artigianale Venezia”; “Original-hand made”; “Défendons-nous la Fabrication em Italie! Défendonsnous la Fabrication em Venise!” “Nossas máscaras são tradicionais, fruto do trabalho desenvolvido na família italiana”, afirmou um dos artesãos-artistas, que apressadamente dividia sua atenção entre responder minhas questões e atender os compradores (Fig. 01) (ANEXO 02). Em muitas outras lojas e pequenos quiosques havia a exibição e comercialização de máscaras cuja produção era fruto da massificada indústria chinesa. À distância e sob o brilho do sol, aquelas faces encantadas pareciam semelhantes, mas ao atentar, detalhadamente, pude constatar as diferenças de acabamento, do tipo de material, do estilo decorativo e, principalmente, do cuidado com que os artistas italianos desenvolviam o trabalho, fruto do aprendizado da tradicional Arte local (Dig. 03 a 05). Os dias de campo mostraram o quanto esses dois universos delimitavam a realidade atual de Veneza e confirmaram que aquela situação particular poderia indicar um contexto ampliado, que trazia à tona uma perspectiva universal. Traçando um paralelo com o campo desenvolvido nas cidades dos mascarados de Pernambuco, pude refletir que, da mesma forma que em Veneza, Bezerros, Afogados da Ingazeira e outros municípios estavam sendo invadidas pela produção Capítulo 8- Movimento da Tradição
392
de máscaras industrializadas. No caso brasileiro, as máscaras plásticas e de látex, comercializadas por um preço bem aquém das máscaras produzidas manualmente pelos artistas locais. Durante o campo em Veneza, embora tenha tentado de inúmeras maneiras conseguir o endereço dos ateliês para conversar com os artesãos-artistas em seus locais de trabalho, em nenhum momento eles se mostraram dispostos a revelar os lugares de produção das máscaras: era como um segredo velado. O contato que tive ocorreu nos próprios pontos de venda, entrecortado pelo atendimento aos turistas5. [5] Havia muitos locais de venda de artesãos-artistas nativos, próximos à Praça de São Marco, lugar de grande fluxo turístico.
A cada novo encontro notei que, quanto mais sofisticadas eram as lojas, mais difícil a relação entre o artesão-artista, também comerciante, e o pesquisador. Nada de muita conversa sobre a Arte tradicional desenvolvida. Em contrapartida, havia um interesse visível em vender o material exposto, cujo preço aumentava quanto maior a elaboração dos artefatos6. “Nada de fotos no interior dos
[6] Algumas peças chegavam a custar 1500 euros: máscaras com detalhes em metal e pedrarias.
estabelecimentos”, diziam, sem nenhum constrangimento, os artesãosvendedores. Assim pude apenas fazer os registros da riqueza e variedade dos quase-sujeitos através das límpidas vitrines que exibiam a numerosa e suntuosa produção: rostos incólumes, à espera dos abastados compradores (Fig. 02 e 03; Dig. 06). Observei que em uma elegante loja no bairro de Cannaregio, em uma rua próxima ao Grande Canal de Veneza, uma placa indicava Laboratorio Artigianale: Prodotto da Zago e Moli. Tratava-se de um importante ponto e comercialização de artesãos-artistas tradicionais, que desenvolviam máscaras em cartapesta, cuoio, metallo, resina e cerâmica. Um dos artesãos-artistas me explicou que as máscaras usadas para encobrir a face eram geralmente em papel, couro ou resina. Salientou que o trabalho com metal e pedrarias exigia que algumas fossem confeccionadas em resina para que ficasse mais resistente, mas com o devido cuidado para que o recobrimento interno possibilitasse o uso sobre a face, sem danos para a saúde; as criações em cerâmica, por sua vez, eram apreciadas para decoração. Havia também máscaras compradas como souvenir. Plumas, vidros e veludos imprimiam certo Capítulo 8- Movimento da Tradição
393
glamour às mais luxuosas peças. Naquela loja, tanto o discurso do artesão-vendedor, quanto os folders escritos em inglês, francês e italiano indicavam a preocupação da família em defender a questão da tradição italiana na fabricação das máscaras (ANEXO B). Era visível a irritação dos nativos com a multiplicação do comércio paralelo de peças industrializadas. Existia, por parte dos artesãos-artistas que exibiam orgulhosamente o brasão da família em seus produtos, uma grande preocupação em afirmar a originalidade de sua Arte. Nos folders destacavam que as máscaras eram resultado de um trabalho manual, inteiramente artesanal, feita por mestres especialistas, que davam continuidade à antiga tradição veneziana. Eles primavam pela qualidade, pelo rigoroso respeito aos ensinamentos repassados e pelo gosto e estilo transmitidos através de gerações de artistas de Veneza. Os dias seguiam e tentei cada vez mais me aproximar de outros artesãos-artistas e dos vendedores das máscaras chinesas. Estes eram, na sua maioria, paquistaneses e indianos e seus produtos tinham um selo ou carimbo com a indicação Made in PRC, sigla da República Popular da China. Segundo uma vendedora italiana usar essas máscaras de poliuretano7 na face era arriscado, pois poderia provocar alergia e mal estar pelo contato com o suor do rosto. Ao fazer algumas [7] Poliuretano é uma espécie de plástico rígido. Alguns pontos comerciais vendiam as máscaras sem pintura, apenas a base em um preço muito baixo (dois euros) para que fosse pintada e decorada pelo próprio turista.
perguntas sobre a origem das máscaras e o uso de materiais um dos comerciantes paquistaneses repentinamente indagou em italiano “Vai comprar a máscara?” Logo percebi que o seu interesse era realmente o de selar uma relação estritamente comercial: nada de muitas perguntas e respostas. Nada de muita conversa sobre os produtos comercializados. Felizmente a receptividade e o acolhimento em relação à pesquisa tiveram conduções diferenciadas ao me deparar com uma artesã-artista, que exibia a Arte familiar em um amplo quiosque, estrategicamente posicionado no Giardinetti Reali, na entrada da Praça de São Marco. Aquele era um ponto comercial onde muitos artesãosartistas comercializavam máscaras e outros produtos que chamavam a atenção dos turistas, como leques, chaveiros, objetos decorativos, dentre outros (Dig. 07). Capítulo 8- Movimento da Tradição
394
Com seu sorriso largo e um entusiasmo contagiante a alegre Paola Rebeschitu8 falou da importância das máscaras, de seu trabalho, da manutenção de sua arte. Para ela a tradição era mantida pela insistência [8] Nascida em Veneza, a artesã- artista, 46 anos, dividia o ateliê com o cunhado. Ela fazia as máscaras em cartapesta e o cunhado em cuoio. Eles assinavam como Família Bertolini.
de um trabalho coletivo, embasado pelos laços de parentesco e amizade. Veneza durante todo o ano comercializa as máscaras, o que era de suma importância para o desenvolvimento desta Arte. O folder que divulgava o trabalho da família italiana reiterava a ligação forte e indissolúvel entre a cidade e as máscaras. Esse fenômeno não estava restrito apenas ao período de Carnaval, mas era uma presença
[9] Pantalone: caricatura do comerciante rico e avarento de Veneza. Com sua roupa vermelha e manto negro o mascarado era educado e galanteador com as mulheres. Arlecchino: um serviçal que, ao lado de Pierrot e Collombina formava um famoso triângulo amoroso. O Pierrô era o palhaço triste, apaixonado, com sua roupa branca e larga. O Arlequim era astuto e engraçado. Colombina retribuia o amor de Arlequim, mas era amada em segredo por Pierrô. Os três personagens são muito encontrados no Carnaval pernambucano. Dotore Della Peste: a máscara era usada pelo médico como forma de proteção das doenças. Dentro do grande nariz eram colocadas ervas para o combate às bactérias. Gnata e Bauta: uma preferência dos travestis.
[10] Antropólogo e Historiador.
contínua na vida cotidiana do lugar. No Carnaval, porém, o movimento aumentava e isso exigia uma dedicação constante e um persistente trabalho de criação e elaboração (Dig. 08). Era visível a inspiração da Arte ali exposta em relação aos personagens tradicionais da história e do teatro de Veneza, em destaque a Commedia dell’arte. Pantalone, Arlecchino, Dotore Della Peste, Gnata e Bauta9, eram algumas dessas conhecidas faces, que possuem características próprias. Acredito que quando alguém escolhia uma dessas máscaras para revestir o rosto, estava buscando uma transformação viabilizada por esses quase-sujeitos. A máscara, nesse sentido, inseria o usuário em cada contexto a ser vivido, criando novos seres que, temporariamente, poderiam adentrar em uma realidade construída pelo mascaramento. Como nos municípios pernambucanos as máscaras suscitavam emoções, sentimentos. Isso é revelado no depoimento do turista brasileiro: Assim que desci na Praça Roma, tomei um vaporeto e fui observando a quantidade enorme de mascarados, roupas, os cheiros, os sotaques. Veneza é uma babel literalmente, além de ser arquitetonicamente surreal. Chegado o ponto da parada, como não conhecia a cidade, me perdi, me encurralei entre pontos inumeráveis e becos que de tão estreitos só passavam uma pessoa por vez. Porém, lembro que mesmo à noite, altas horas da noite, perdido entre vielas estreitas e mal iluminadas e dando de cara com pessoas totalmente mascaradas, não tive nem receio e nem aflição. (Luciano Borges10).
Tecendo comparações com a realidade pernambucana, Luciano me revelou que também teve oportunidade de vivenciar o Carnaval de Bezerros. Deixou claro que em ambos os locais o medo Capítulo 8- Movimento da Tradição
395
foi suplantado pelo prazer de viver o encantamento da festa carnavalesca. A cada dia passado em Veneza constatei o quanto era forte o desejo dos italianos em manter a tradição de uma Arte vivida cotidianamente há séculos. Em Burano, ilha próxima à Veneza, encontrei Mariarosa Vio que exibia em seu quiosque muitas placas, assinalando a originalidade de seu trabalho. Ela esclareceu que não pertencia a uma família de artesãos-artistas. Sua Arte era fruto de um aprendizado individual, a partir de cursos em ateliês de Veneza e Burano. Algumas fotos colocadas estrategicamente no local de vendas mostravam Mariarosa em seu ateliê, executando as máscaras. “Não vendo máscaras chinesas. Essas são minhas. Eu sou a artista!”, afirmava orgulhosamente, com voz marcante (Fig. 03, Dig. 09). Mais uma vez ficou claro o conflito vivido pelos nativos, indignados com a ativa participação da indústria das máscaras estrangeiras. Os italianos subestimavam as cópias chinesas: uma forma de desautorizar a criação fora dos moldes tradicionais de elaboração e o mercado paralelo. Notei que a reação de descontentamento era em função do desejo de preservar a identidade de Veneza, construída através da Arte das máscaras e também pela questão econômica, em função da diminuição das vendas fruto da concorrência estrangeira. O campo em Veneza foi para mim a realização de um sonho, e o reconhecimento da importância da Arte das máscaras na cidade Italiana, tão marcante na história local e mundial. Por mais que possamos imaginar a grandiosidade do contexto existente naquele lugar, nada se compara a estar ali, aprendendo a construir o conhecimento sobre a teia formada em torno das máscaras: aprendendo com elas e a partir delas. Estas, mesmo silenciosas dentro de reluzentes vitrines ou agrupadas sobre balcões de lojas e quiosques, falavam de uma história, das mudanças no tempo e do movimento constante da tradição. Seria possível tecer uma reflexão a partir daquele universo com dimensões tão marcantes? Como poderia visualizar similaridades e antagonismos traçando comparações entre aquela realidade macro e a Capítulo 8- Movimento da Tradição
396
perspectiva diminuta de um pequeno município pernambucano? Ali pude colocar em prática os ensinamentos da teoria ator-rede. E tentar compreender que: o macro já não descreve um local maior ou mais amplo em que o micro possa ser encaixado como as bonecas Matryoshka russas, mas outro lugar igualmente local, igualmente micro, conectado a muitos outros por algum meio que transporta tipos de traços específicos. Nenhum lugar é maior que outro, mas alguns se beneficiam de conexões bem mais seguras com mais lugares. (LATOUR, 2012, p. 255)
Estar em Veneza significou a comprovação de que as realidades mais distantes poderiam trazer similaridades com contextos mais próximos. Segundo Latour o que conta é a possibilidade de registrar a forma “em rede” em vez de dividir os dados em duas porções: uma local e outra global. Em torno das máscaras de Veneza uma grande rede poderia ser desenhada, trazendo elementos similares aos encontrados na realidade pernambucana. [11] Os Papangus-arlequins nas ruas de Bezerros.
Como em Bezerros e Afogados da Ingazeira, os quase-sujeitos atraíam a atenção de moradores, brincantes e turistas. Naquele contexto, da mesma forma que nas cidades pernambucanas a tradição não era algo petrificado e estável: movimentava-se como as águas dos canais venezianos. Em Veneza a beleza e criatividade das máscaras enchiam os
(Acervo Graça Costa)
olhos dos observadores e compradores, como em Bezerros e Afogados da Ingazeira. Na cidade italiana e nos municípios pernambucanos havia uma estética própria. Em cada lugar, gostos e estilos característicos, mas que revelavam uma aproximação das técnicas repassadas pelos ensinamentos de mestres e também da
(Acervo Júlio Pontes)
temática marcante no teatro. O arlequim, por exemplo, tão presente em Veneza, era figura muito encontrada no Carnaval dos Papangus, adequando-se ao contexto brasileiro. São figuras arquetipais que ganham traços característicos em cada contexto11. Papéis, pigmentos, couro, resina, plástico, tecidos, pedrarias,
(Acervo Júlio Pontes)
metais: um conjunto comum de materiais que, na mão dos artesãosartistas, criavam as novas faces. Como nas terras dos Papangus e Capítulo 8- Movimento da Tradição
397
Tabaqueiros a identidade da cidade italiana era edificada a partir da importância das máscaras: esses quase-sujeitos que geravam conhecimento, através de conceitos e contextos, locais e universais. Essas revelações foram tomando força a cada dia vivido na inesquecível cidade italiana e ampliaram-se na continuidade de minha viagem. Prosseguindo minha caminhada pela Itália, em algumas cidades da Toscana detectei a presença das máscaras em pontos comerciais distribuídos próximos aos locais de maior fluxo turístico, servindo de atração aos visitantes. Em Siena e Florença trabalhos semelhantes aos encontrados nas ricas lojas de Veneza eram expostos em luxuosas lojas. Mesmo na pequena cidade de San Gimignano, província de Siena, ou na metrópole romana, as máscaras italianas enchiam as lojas de luxo e glamour (Dig 10). Há cerca de onze quilômetros de Siena fui visitar a cidade medieval de Montereggioni, onde acontecia uma festa. Tratava-se de La Festa Medievale, vivenciada em sua vigésima segunda edição, dentro dos altos muros de pedra que cercavam o antigo feudo. Soldados com armaduras reluzentes faziam a guarda dos imensos portões. Atores, que circulavam com seus trajes típicos, dançavam, encenavam, vendiam produtos e comidas, reviviam o cotidiano medieval tendo como cenário a cidade que ardia sob um sol escaldante. O verão italiano e o movimento festivo excitavam os turistas que comiam, bebiam, jogavam, aplaudiam, compravam. Percorrendo aqueles labirintos pedregosos fui envolvida pela emoção ao me deparar com dezenas de máscaras em couro: personagens da Commedia dell’art. A criação era de um casal de artesãos-artistas que estava vestido à caráter como comerciantes medievais. Valerio Gamberini e Anna Rodilo eram os responsáveis pela produção de “mascheres in pelle”, um belo trabalho em couro que expressava a Beleza do Feio dos famosos personagens do antigo teatro italiano. Da mesma forma que Mariarosa Vio, artesã-artista de Burano, Valerio e Anna não faziam parte de uma descendência de artistas. A partir de um aprendizado individual haviam iniciado e abraçado a Arte das máscaras (Fig. 04; Dig. 11). Capítulo 8- Movimento da Tradição
398
Dependuradas no local de venda ou agrupadas sobre a bancada, as máscaras em couro brilhante despertavam a atenção dos turistas que, indecisos, colocavam-nas sobre a face, antes de efetuar a compra. Os artesãos falaram da diversidade dos personagens da Commedia dell’art e de como cada um deles era, muitas vezes, retratado em diferenciadas peças. Existia alí, por exemplo, duas máscaras distintas que representavam o personagem Arlecchino. Aquela foi realmente uma oportunidade ímpar de ver os quase-sujeitos em um cenário típico, que revivia o contexto medieval. Alguns vendedores e artistas usavam máscaras ou pintura sobre o rosto. Circulavam pela cidade, sob um clima de festa: uma aula de tradição, que, encenada, era revivida (Dig. 12 a 15). Atravessar o oceano; sobrevoar continentes; ultrapassar barreiras: distâncias, fuso-horários, línguas diversas. Ampliando a manta
do
conhecimento
sobre
os
objetos-sujeitos
percorri
atentamente a exposição Masques à démasquer, no Musée Barbier-Mueller, em Genebra, Suíça. A mostra, marco comemorativo dos 35 anos de existência do Museu, trazia máscaras da África, Oceania, Ásia, América e Europa. Dentre os 100 exemplares pude contemplar as múltiplas criações de Nova Guiné, Indonésia, Congo, Japão, Vietnam, Sri-Lanka, Suiça, Nepal, Estados Unidos, Alasca, China, Gabão, México, Egito, Costa do Marfim, Senegal, Iran, Tanzânia, Itália, Moçambique, Peru, Nigéria, Camboja. Usadas para decoração de ambientes, como acessório na forma de pingente, em rituais fúnebres, nos momentos festivos, com fins esportivos e em atividades de trabalho, o conjunto comprovava os diferentes contextos nos quais as máscaras marcavam presença na história mundial. Após percorrer as salas
compactuei com a idéia do escritor e dramaturgo Éric
Emmanuel Schmitt, registrada no catálogo da exposição: “l’excellente [12] A excelente exposição que nos propõe o Museu Barbier-Mueller não nos oferece somente uma viagem ao tempo e ao espaço, mas também uma exploração da complexidade humana.
exposition que nous propose le musée Barbier-Mueller ne nous ofrre pas seulement un voyage dans le temps et l’espace, mais aussi une exploration de la complexité humaine” (p.09, 2012)12. Observava o quanto as máscaras têm uma importância diferenciada enquanto atuantes, mediadoras, presentes em rituais, Capítulo 8- Movimento da Tradição
399
celebrações, festividades, desenvolvendo ações. Mesmo fora do contexto de atuação as máscaras estavam ali, ensinando-me, como Latour, que [...] “quando os objetos recuam em definitivo para os bastidores, sempre é possível-mas mais difícil- trazê-los de volta à luz usando-se arquivos, documentos, lembranças, coleções de museu, etc.[...] (LATOUR, 2012, p. 121). Compreendia que, mesmo presas nas vitrines elas ainda contavam histórias. Madeiras, metais, papéis, tecidos, fibras, plásticos davam forma e dimensão àqueles rostos com expressões multifacetadas: tristeza, melancolia, sentimentos
terror,
comicidade,
suscitados
pelos
temor,
alegria,
quase-sujeitos
que,
divertimento: incólumes,
contemplavam os observadores, através dos septos de vidro que os separavam do público. A exposição mostrava desde peças antigas até exemplos da criação contemporânea: a importância das máscaras para a cultura de diversos povos. Embora pudesse contemplar variados padrões de Beleza traçados nos sutis detalhes de cada peça, detectei que um percentual significativo trazia uma estética mais próxima à Beleza do Feio, indicando a importância desse universo estético (Dig. 16). Reconhecendo as ações e comunicações humanas e a [13] Eles [as máscaras] acusam, eles “zonam, eles encantam, eles oprimem, eles assustam, eles consolam, eles aterrorizam, eles admitem, eles seduzem, eles fazem carinho, eles condenam, eles enfeitiçam, sobretudo eles imaginam. Felizmente eles cruzam fronteiras entre o humano e o animal. Entre o vegetal, o mineral e o carnal... Em suma, eles expandem os rostos da liberdade. Isto quer dizer, o nosso. Obrigadao Máscaras!
importância das máscaras para nossa existência, Erik Orsenna, romancista e acadêmico, membro da Academia Francesa, elenca, no prefácio do catálogo da exposição, uma série de ações desempenhadas por esses quase-sujeitos, e, como uma homenagem, agradece às máscaras. Ils accusent, ils se moquent, ils enchantent, ils accablent, ils effraient, ils consolent, ils terrorisent, ils avouent, ils séduisent, ils caressent, ils condamnent, ils envoûtent, surtout ils imaginent. Allègrement, ils franchissent les frontiéres; entre l'húmain et l'ánimal, entre le vegetal , le minetal et le charnel...Bref, ils agrandissent la liberté des visages. C'est-à-dire la nôtre. Merci les masques! 13 (OSENNA, 2012, p.06).
Assim, o campo desenvolvido no além-mar foi significativo para confirmar que os objetos e indivíduos, humanos e não-humanos formam uma teia, uma rede tecida por filamentos tênues e fortes, sutis e complexos, locais e universais.
Capítulo 8- Movimento da Tradição
400
[Fig.01] No photo! Anunciavam os avisos aos turistas. (Acervo Graça Costa). .
\
[Fig 02] Através das vitrines sofisticação e glamour da arte italiana. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
401
[Fig. 03] A artesã-artista orgulha-se de sua arte. (Acervo Graça Costa)
[Fig. 04] Personagens da Commedia dell’art na cidade medieval. (Acervo Graça Costa)
Capítulo 8 – Movimento da Tradição
402
CONTINUANDO A TECER...
Aquele que quiser, mesmo que fosse somente em certa medida, chegar à liberdade da razão, não tem o direito de se sentir na terra de outra forma senão como viajante [...]; é por isso que não pode apegar muito intensamente seu coração a nada em particular; é preciso que tenha sempre nele alguma coisa de viajante que tem prazer pelas mudanças e pela passagem. (NIETZSCHE, 2006, p.354). Sim, vivemos num mundo híbrido feito ao mesmo tempo de deuses, pessoas, estrelas, etétrons, usinas nucleares e mercados; cabe a nós transformá-lo em „desordem‟ ou „todo orgânico‟, num cosmos como reza o texto grego [...] (LATOUR, 2001, p. 30).
Continuando a Tecer...
403
Filha de Zeus e Métis, deusa da prudência, Atena era considerada sábia, pois fazia ao mesmo tempo coisas úteis e belas. No mundo grego, principalmente em Atenas, sua cidade preferida, a deusa era protetora das atividades filosóficas. Demonstrou também suas aptidões marciais, enfrentando deuses e gigantes. Conhecida como a deusa tecelã, a sábia deusa ensinava a desenvolver a Arte da tecelagem e acreditava que o planejamento, a paciência, a destreza, a criatividade, formavam um conjunto que permitia tecer o sagrado nos mais diversos atos cotidianos. Exatamente por guiar as atividades práticas do dia-a-dia, ganhou o título de obreira. Muitas vezes Atena foi chamada a aconselhar os deuses, pois era respeitada pela sua justiça e razão. Tinha como apetrechos a lança, o capacete, e a égide, escudo feito com pele de cabra. Como animal de estimação, a coruja, símbolo da inteligência. (KURY, 2008). Continuando a Tecer...
404
Seguindo o Fio
Como o fio de Ariadne que ajudou Teseu a percorrer os caminhos tortuosos do labirinto, os filamentos, nylons, linhas, ligações, fibras, veias e ramas que encontrei na pesquisa, me fizeram trilhar os itinerários necessários e indispensáveis à realização desse trabalho. As tramas, teias, redes, tecidos e suportes nele construídos permitiram que eu percebesse o quanto as máscaras dos folguedos carnavalescos de Pernambuco e todo o universo que as envolve, são ricos, mutáveis, adaptáveis, criativos: tanto quanto a imaginação humana. A linguagem dos brincantes mascarados do Carnaval pernambucano é expressa através da corporeidade, de sua gestualidade, de seu silêncio. A máscara enclausura o texto falado e as fantasias e adereços enaltecem o corpo, dando-lhe uma roupagem digna da ocasião festiva, ampliando-lhe o efeito comunicativo. A máscara fala, comunica, revela, cria e recria situações onde são envolvidos os brincantes e assistentes. Esse quase-sujeito, presente nos folguedos dos Papangus, dos Tabaqueiros e de tantas outras brincadeiras carnavalescas formam um conjunto representativo, onde o imaginário de todos é aguçado, ajudando a gerar um sistema simbólico que constrói as narrativas e identidades dos sujeitos e dos lugares. Nesse itinerário, as proibições que existem na vida, a ordem moral e social cotidiana, são transgredidas através da linguagem festiva carnavalesca, que permite infringir padrões oportunizados pelo riso, pela zombaria, pelo excesso, pelo desregramento, pela esperteza, pela agressão, pela contestação e pela sexualidade. De um continente a outro, de uma região cultural a outra, a narrativa popular veicula os mesmos ensinamentos: realiza uma transgressão impossível, porque geradora de crises amedrontadoras, através da fala de personagens imaginários [...]. (BALANDIER, 1997, p. 123).
Esses personagens povoam o Carnaval onde se pode presenciar uma linguagem própria dentro de cada folguedo da tradição. A transmissão dessa linguagem, tornando seus membros competentes para sua utilização, se dá a partir de experiências Continuando a Tecer...
405
compartilhadas, conhecimentos e habilidades passadas de pais para filhos, entre vizinhos e amigos, na rua e nas praças, em forma de brincadeira. É a tradição que perdura pela passagem de informações necessárias a sua perenidade e movimento, processo emergente e dinâmico. A memória individual e coletiva veicula as informações, sendo como um adubo catalizador da fertilidade do solo que gera o nascimento, crescimento e vida dos folguedos. O repertório para a elaboração da linguagem característica de cada brincadeira é adquirido através das experiências no grupo e estão sujeitas a mudanças, durante o ciclo de vida dos brincantes e dos folguedos. O conhecimento é construído, na brincadeira e nas narrativas sobre as manifestações: na Arte das máscaras, na tradição das velações e revelações, na preparação das fantasias, na maneira de interagir com os assistentes, na linguagem expressa pelo corpo, pela fala e pelo silêncio (Fig. 01). Nessa gama de relações são desenhadas as identidades dos sujeitos, dos grupos e dos lugares. Para percebê-los, é importante estar ciente de peculiaridades que caracterizam cada comunidade, cada grupo estudado, cada elemento particular e a partir deles, tecer as teias que formam as redes universais. Acredito que em um movimento de construções identitárias diversas, os contextos são igualmente múltiplos, ajudando a formatação do sujeito que também o é. Podemos então pensar nas identidades como elementos que se moldam conforme os diversos sujeitos, a dinâmica dos lugares, a relação com as comunidades circundantes, o interesse pela elaboração e ampliação identitária. Em Bezerros há uma construção identitária sólida e com grandes dimensões, a partir do folguedo dos Papangus. Nesses mais de 100 anos de existência os indivíduos e a cidade transformaram-se pela presença marcante da máscara. Esta se multiplicou aos milhares e viabilizou a criação da Terra dos Papangus, com o devido reconhecimento local, nacional e até internacional. Em Afogados da Ingazeira o antigo Papangu apresentou características diferenciadas e passou a ser chamado de Tabaqueiro. Continuando a Tecer...
406
Com essa nova identidade os brincantes a cada ano conquistam mais adeptos ao folguedo e a cidade segue em busca do reconhecimento da importância da brincadeira centenária como valioso símbolo identitário (Dig. 01 e 02). A identificação (MAFFESOLI, 1996) entre os brincantes, moradores e visitantes embasa as relações vividas e as emoções sentidas: na preparação das idumentárias, na escolha dos personagens, na elaboração das máscaras. Essas novas faces vivem a eternidade dos fugidios e encantados momentos da festa. Nas caminhadas pelas ruas, no convívio nas residências, no desfile nos palcos espalhados pelas cidades, os mascarados convivem, nutrindo os folguedos que se preservam e mudam numa dinâmica incessante. São esses instantes eternos (MAFFESOLI, 2003) que motivam o encontro, a convivência, a troca, a realização, a criação. São os retalhos de vida formatados na pândega. A máscara traça vínculos sociais. Estética e imaginário são como ferramentas que respondem às necessidades suscitadas pelos sentimentos presentes no universo da brincadeira. Medo, segredo, vaidade e prazer ditam os caminhos a serem seguidos quando o artesão- artista apropria-se da mobilidade e riqueza dos materiais e alia criatividade, imaginação e emoção, na confecção dos quase-sujeitos. Terra, água, fogo e ar, juntos, auxiliando na criação: natureza e cultura rompendo os abismos da dualidade. Uma Ciência formatada na prática. Uma Arte que responde os anseios individuais e grupais, construídas antes, durante e depois da festa carnavalesca, seguindo o ciclo da Lua. Nesse movimento, o Conhecimento e a Técnica formam um fio condutor, bordando a Arte das máscaras. O estudo sobre os Papangus e os Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira me permitiu desenhar uma trama particular e local em relação ao contexto específico dessas comunidades, mas que certamente serviram para pensar na visualização de uma manta muito maior, de extensões universais. No Carnaval cada brincante e todo o conjunto de mascarados desenham uma constelação simbólica a partir das imagens do medo, do segredo, da vaidade e do prazer, sentimentos que marcam a vida e a história dos Continuando a Tecer...
407
folguedos e direcionam o nascimento e movimento das máscaras. O medo, registrado nos primórdios das manifestações estava relacionado com as perturbações que os mascarados provocavam, pelo que simbolizavam. O medo continua a existir, mas agora de forma diferenciada. As crianças, que hoje dialogam incessantemente com os personagens medonhos da televisão, do mundo digital, dos filmes infantis, não se sentem amedrontadas com os mascarados, como ocorria com as crianças no início da história centenária dos folguedos. Elas próprias se fantasiam de mutantes, expressando a criatividade trazida pela criação artesanal ou pela produção da indústria de máscaras que trabalham a estética do medo (Dig. 03). Hoje não perdura de forma contundente o temor das novas faces que se mostram, mas o medo das pessoas feias de alma, escondidas muitas vezes por belas máscaras. A cultura do medo se ampliou na contemporaneidade. A mídia veicula a todo instante a violência gerada no meio urbano das grandes cidades, e que se estende para os centros menores dos municípios interioranos. Nesse processo que se amplia e se mostra como uma barreira visível, a cultura do medo separa as pessoas, isola os indivíduos, gera o temor e a desconfiança (KOURY, 2004). A máscara gera o medo. É preservado um respeito em relação à máscara, esse quase-sujeito que possibilita o segredo e viabiliza o anonimato. “Dentro da própria máscara a gente tem que ter um respeito porque por trás de uma máscara tá um engraxate; tá um gari; tá um juiz de direito; tá um prefeito” (mestre Lula Vassoureiro). A máscara amplia o imaginário social do outro, revelando-o como estranho ou mesmo inimigo em potencial, exatamente por esconder a verdadeira identidade de quem a usa. Em outra perspectiva o medo continua presente cercando os participantes das brincadeiras nas mais sutis maneiras: o medo da chuva que destrói as fantasias; o medo do tempo, inimigo da perfeição; o medo do não reconhecimento de um esforço de muitas horas de trabalho; o temor de que alguma coisa possa atrapalhar ou inviabilizar o brilho da participação do brincante na pândega Continuando a Tecer...
408
carnavalesca. Nesse processo infinito que existe no tênue limiar entre o ser e o ser outro, a vaidade também acompanha as brincadeiras. A Beleza do Feio e do Belo estão presentes nos folguedos dos mascarados pernambucanos. No teatro, o par de máscaras que representa a Arte [1] O cômico e o trágico: máscaras de Murilo Albuquerque
da encenação traz em sua estética a essência do Trágico e do Cômico. No Trágico a Beleza do Belo e do triste1. No Cômico a Beleza do Feio e do risível. Assim também nas ruas de Bezerros e de Afogados da Ingazeira, guardando as características de cada localidade, há um diálogo entre esses elementos. O Belo e o Feio, o trágico e o cômico, o alegre e o triste, a ordem e a desordem criam um caleidoscópio: a multiplicação de personagens surge pelas infinitas possibilidades de elaboração das máscaras que dão vida ao imaginário individual e coletivo. Os horrendos e hilários brincantes se satisfazem com o riso e o divertimento provocado pelo reconhecimento de sua criatividade: a Beleza do Feio chama a atenção, provoca interação, propicia o reconhecimento. Os glamorosos e exuberantes mascarados se envaidecem pelo encantamento dos assistentes: a Beleza do Belo é legitimada a partir do brilho, da riqueza, da ostentação (Dig. 04). Os assistentes, filhos da terra ou visitantes, são responsáveis pela existência e amplidão desse sentimento: a vaidade existe pela interação entre o mascarado e quem está vendo, elogiando, admirando. O turista, por conseguinte, com seus registros fotográficos e seu desejo de levar consigo as imagens capturadas, cerca os brincantes numa atmosfera de encantamento e prazer. A propaganda midiática, com a cobertura do Carnaval e o poder institucional, com a organização e ampliação dos Concursos, revelam-se como elementos catalizadores para a propagação da vaidade, veiculando a imagem da festa e dos mascarados (Dig. 05). Nesse processo de criação e recriação, o segredo e o prazer são como fios eternos, que ligam e religam tudo, tornando cada brincante e os folguedos como parte e todo de um conjunto complexo, que dialoga
incessantemente.
E
tudo
isso
forma
um
universo
Continuando a Tecer...
409
multifacetado, essencial para a percepção da dinâmica dos sistemas de valores e crenças existentes dentro de cada cultura comunal presente nos grupos de mascarados carnavalescos. O segredo e o prazer dialogam permanentemente na construção dos folguedos. Desde os mitos de origem, esses dois elementos entrelaçaram-se e continuam a viver, lado a lado, perdurando e transformando as brincadeiras, a cada Carnaval, a cada ano, em cada lugar. Nesse imbricamento, contextos e conceitos formam um entrançado cujos fios caracterizam cada brincante, cada folguedo, cada máscara. O segredo que esconde, que burla, que persuade, que engana, que atiça a curiosidade, suscita o prazer. O segredo viabiliza a vida da máscara ocultando, pelo menos temporariamente, a face por ela encoberta. Existe uma simbiose entre os quase-sujeitos e os indivíduos, sejam eles brincantes ou assistentes: os olhos que brilham por baixo das máscaras e os olhos que brilham ao fitá-la, suscitando prazer. Ao indagar sobre o que há de mais valioso nas brincadeiras dos mascarados ouvi muitas vezes uma mesma resposta: “o encanto de ser mascarado despertando nos foliões a curiosidade em descobrir quem [2] Eliane Cristina Guilhermino. Turistabrincante, participou do grupo de Fabiano, vencedor Concurso 2011 dos Papangus, categoria estilizado.
está por atrás daquela fantasia” (Eliana Guilhermino2). Segredo e prazer misturam-se repetidamente e infinitamente, sendo um, o alimento para o outro. Os brincantes revelaram que não é fácil manter o anonimato, sendo isso possível através do prazer de brincar, de jogar com os sentimentos plantados e colhidos a cada Carnaval. O prazer de pensar na estética da máscara, de escolher um tema, de comprar os materiais, de manipulá-los transformando-os em realidade, de vestir-se, de sair nas ruas, de desfilar nos Concursos, de ser fotografado, assediado pelos amigos e visitantes. E, Finalmente, o prazer de se mostrar de cara limpa no fim da festa, revelando o segredo, guardado como um valioso tesouro.
Percorrendo o Labirinto
O jogo do anonimato e do segredo não envolveu apenas brincantes e visitantes. Eu, como pesquisadora, muitas vezes me encontrei cercada pelo encantamento desse movimento, o qual trouxe Continuando a Tecer...
410
reflexos no trabalho de pesquisa: segredos a serem velados e revelados. Durante o trabalho de campo, na perspectiva de uma real observação participante, eu era ao mesmo tempo assistente e cientista. Nesse processo, me envolvi não apenas com uma curiosidade própria daqueles que assistem as manifestações, mas alimentei uma avidez por desvendar os labirintos que cercavam as brincadeiras. Era justamente nessa busca que existia constantemente o enfrentamento de condutas éticas necessárias ao desenrolar da pesquisa No decorrer do trabalho ouvi histórias detalhadas sobre a origem dos folguedos, suas mudanças e permanências. Escutei continuamente depoimentos que revelaram atritos existentes entre grupos, desavenças que eram fruto de disputas e julgamentos pronunciados entre brincantes “adversários”. Como pesquisadora, exercitei permanentemente a curiosidade, sedenta por novas informações que me levassem a desvendar importantes detalhes confidenciais. Reconheço que em suas pesquisas os antropólogos desejam ter para si o que na verdade pertence ao grupo estudado: seus preciosos sigilos. Lidamos sempre com as possibilidades de conhecer e compreender, de desvendar integralmente ou parcialmente as práticas secretas, revelando-as ao mundo acadêmico. Em minha pesquisa o segredo que cercava a tradição das brincadeiras dificultou e adiou a obtenção de informações, mas tenho consciência de quanto tudo isso serviu para que eu melhorasse minha conduta frente aos impedimentos que floresceram no campo. Nosso cuidado, como antropólogos, ao entrarmos em contato com um mundo alternativo de formas simbólicas, deve ser o de preservá-lo, de contribuir para que prossiga. Se nos foi dada a sorte e a sensibilidade de descobrir algo de maravilhoso, devemos procurar reunir ainda mais sensibilidade para não interferir, não provocar a desintegração ou o desencantamento. (CARVALHO, 1985, p.220).
Como os brincantes, senti também a satisfação por compartilhar e preservar os sigilos das brincadeiras. A curiosidade sobre os segredos me fascinava, motivava, atiçava, despertava atenção, tal qual a revelação de um quebra-cabeça: o prazer da construção do Continuando a Tecer...
411
conhecimento Nos labirintos da pesquisa detectei que existia um campo tensional entre os quatro temas recorrentes, responsável pela vida, pela dinâmica e pela magia das brincadeiras. Qual o mais importante o segredo ou a vaidade? O medo ou o prazer? Embora existisse um imbricamento entre esses elementos, em determinados momentos alguns se tornaram mais significativos que outros e serviram de fios condutores para o desenvolvimento da pândega dos mascarados. Um dos dilemas vividos pelo brincante estava entre velar o rosto, mantendo o segredo, ou revelar-se, mostrando aos outros a sua face, para receber os elogios pela beleza e criatividade de sua indumentária. Ao velar-se, a máscara torna-se face. Como quasesujeito interage com os assistentes, provocando sentimentos e emoção. Nesse caso, a vaidade de mostrar o próprio rosto tem uma menor importância, frente ao jogo do anonimato (Dig. 06). Outra questão construída na brincadeira permeia os caminhos da vaidade individual e do prazer compartilhado. Ao desfilar sozinho o mascarado não tem que dividir as atenções dos turistas. Ele é assediado, visto, fotografado, individualmente. Entretanto muitos brincantes preferem ser apenas um elemento de um belo conjunto. A parte de um todo, vivendo, em grupo, a brincadeira do mascaramento. Nesse caso, faz a opção de dividir as atenções dos turistas com os companheiros de grupo, deixando a vaidade pessoal em segundo plano e colocando o prazer da identificação como elemento primordial. (Dig. 07). Continuando a refletir sobre os temas recorrentes encontrei outra dinâmica que cerca brincantes e assistentes, revelada principalmente nos primórdios dos folguedos. Os moradores muitas vezes, embora sentissem muito medo com a presença dos feios mascarados, não deixavam de participar da pândega, sobrepujando o medo pelo prazer de estar em contato com os temidos brincantes. Em relação ao universo da estética do Feio e do Belo, existe uma questão que cerca todos os temas recorrentes. Muitos brincantes escolhem chamar a atenção com máscaras feias e fantasias grosseiras. Continuando a Tecer...
412
A Beleza do Feio é marcante nesse caso e existe um enorme prazer em provocar o medo e a comicidade propiciada pelas novas faces. Outros brincantes não abrem mão de usar máscaras e fantasias que exaltam a Beleza do Belo, dando asas a sua vaidade e ao prazer de se mostrarem exuberantes. Em qualquer situação o segredo do mascaramento é como cimento que une, edifica, embasa a folia dos mascarados (Fig. 02 e 03). Nesse tecido de muitos retalhos as máscaras contaram histórias, como amplificadores das vozes e sentimentos dos indivíduos. A máscara enquanto natureza e cultura, enquanto sujeitoobjeto mostrou-se como mediadora: Ela é actante, atuante, e ajuda na transmutação da sociedade. Em uma parceria constante, humanos e não-humanos delinearam caminhos que me ajudaram a construir o conhecimento. Os temas recorrentes presentes nas narrativas formatadas pelo dito e pelo não dito, me fizeram desenhar uma grande manta, cuja estamparia apresentou imagens de desenhos multiformes. Em um processo de manutenção e renovação as máscaras revelaram uma mistura de forma, função e simbolismo. Os materiais moldaram-se, as texturas recobriram, a pintura decorou, com o objetivo de comunicar: era a face do personagem que passava a ter vida própria. Forma e função atrelaram-se delineando uma estética. Esta se revelou a partir do imaginário, do onírico, do mágico. Assim o ciclo forma-função-simbolismo foi fechado, edificado sob o universo da brincadeira: o medo e a vaidade surgiram em função dessa amálgama entre estética e ética, ou como diria Maffesoli, a ética da estética que aciona a proximidade, a conjunção, o agrupamento, a troca. Deve-se entender, neste caso, estética no seu sentido mais simples: vibrar em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente, tudo o que permite a cada um, movido pelo ideal comunitário, de sentir-se daqui e em casa neste mundo. (MAFFESOLI, 2005, p. 08).
Nesse conjunto de relações, a Beleza do Feio ditou os itinerários para que o medo se processasse. A Beleza do Belo indicou os caminhos para que a vaidade circulasse. Em muitos momentos esses sentimentos se invertiam e aí, o Belo causou perturbação-pelo Continuando a Tecer...
413
anonimato- e o Feio acionou a vaidade- pelo reconhecimento da criatividade e irreverência. E, tendo como esteio estes dois universos, as máscaras viabilizaram os personagens, uma ética e estética possível pela existência da complexidade, que associou todos os elementos assinalando que o todo é mais que a soma das partes manifestas. Complexus: o que foi tecido junto. Uma interdependência entre as partes e o todo; as partes entre si; o objeto do conhecimento e o contexto (MORIN, 2002b). O que tece junto traz novamente a metáfora do fio: trançado, enroscado, enlaçado. O verbo complexere significa abraçar e na viabilização desse abraço o segredo e o prazer acolheram o medo, e a vaidade, formando o que chamei de uno plural. (Ilustração 04). Essa revelação foi possível pela constatação de uma verdade: as máscaras falam sem calar sujeitos.
Ilustração 04: Uno Plural Continuando a Tecer...
414
A trama construída no desenvolvimento do trabalho possibilitou um diálogo entre duas tradições: a Complexidade e a Teoria ator-rede. O abraço que envolve; a rede que se expande. Natureza e cultura rompendo grilhões; quebra de hierarquias. Ligações e associações; respeito aos informantes. Esses e tantos outros elementos determinantes dos dois campos de conhecimento afloraram na pesquisa. Acredito que ambos os projetos epistemológicos querem superar os abismos dualistas. Seguem num mesmo sentido e estão voltados para determinada perspectiva intelectual, mas de modos diferenciados. As linhas de pensamento se conectam em alguns pontos e em outros parecem divergir? Onde essas duas importantes concepções podem estar ressoando, se encontrando, se conectando, seguindo caminhos diversos? Isso ainda não está esclarecido. Acredito que se trata de um valioso problema para uma investigação posterior.
Visualizando a Saída
Os estudiosos, filósofos e pensadores são sempre indicadores de caminhos, de itinerários, de saídas. Com o mesmo valor estão os ensinamentos passados por aqueles que têm a ciência construída na vida, que utilizam as relações tecidas cotidianamente como ferramentas de interpretação da realidade: mestres, brincantes, artesãos-artistas, moradores, gestores, visitantes. Seguindo esse conjunto de saberes e fazeres, passei a refletir sobre o nascimento, a vida, o renascimento, as mudanças existentes na Arte das máscaras e no vigor dos folguedos da Cultura da Tradição em Pernambuco. Rastros deixados na cidade, nas residências, nas instituições, nos palcos, na festa. Lugares: cada contexto com suas especificidades. Tradições: movimento perene indicando vida e renovação. Rostos: indivíduos em busca de realização e felicidade. Máscaras no Carnaval de Pernambuco: uma história marcada pelo medo, pela vaidade, pelo segredo e pelo prazer. As máscaras foram objetos que falaram sem calar sujeitos. Narradores, que contaram histórias que marcaram a memória individual e grupal; que desenharam identidades construídas a partir dos personagens dos folguedos da Cultura da Tradição; que reiteraram a Continuando a Tecer...
415
importância das identificações formatadas pelo convívio entre brincantes, moradores e turistas (Fig. 04). A riqueza imagética do folguedo dos Papangus e dos Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira tornou-se viva através dos quase-sujeitos, presentes também em tantas outras brincadeiras pernambucanas. As máscaras criaram e recriaram incessantemente personagens, novas faces introduzidas no jogo do ser e do ser outro, refletidas nos olhos dos assistentes e nos espelhos espalhados pela cidade. Operando nas esferas das aparências, a máscara, híbrido de natureza e cultura, gerou conhecimento, pelo seu poder de criação e transformação. Observando os contextos particulares e específicos, através da observação empírica dos Papangus e dos Tabaqueiros e traçando um paralelo com realidades distantes- como as apresentadas na cidade de Veneza e outras cidades italianas-consegui visualizar quão tênues eram os limites entre o local e o global, o particular e o universal da Arte das máscaras. Os folguedos são construídos coletivamente; na preparação dos brincantes; na confecção ou compra das máscaras; na adequação à temática da fantasia; no comprometimento em guardar o segredo; na personificação do mascarado; na saída às ruas; na nova identidade acionada a partir do mascaramento; na identificação entre os participantes das folias; na inserção num mundo temporário e mágico. O brincante vive uma existência efêmera e transitória e a máscara uma vida eterna pelos sentidos acionados: ela tem a capacidade de alterar a realidade, da mesma forma que o sujeito. Atrela os itinerários empírico-lógico-racional e o mítico-mágico-simbólico (MORIN, 2005), tão caros à existência humana, sendo ao mesmo tempo resultado da técnica e da sensibilidade, materialidade e do simbolismo. É notório que a máscara, como um fio que tece universos, tem a capacidade de realizar mediações entre o terreno e o cósmico. No caso dos mascarados pernambucanos os cenários que delimitam a questão espacial são as cidades, o marco temporal é o Carnaval. A experiência vivenciada pelos brincantes, moradores, assistentes, poder institucional, turismo e comércio, é essencialmente Continuando a Tecer...
416
estética, assinalando a importância do imaginário presente nos folguedos da Cultura da Tradição. No Carnaval, na construção dos folguedos, no processo de mascaramento há criação e Arte. Essas relações de proximidade apontam para o que Nietzsche indicou em sua filosofia como melhor direcionamento para o humano: situar a vida num horizonte estético, algo repleto de alegria e abundância, longe da dor, da doença, da frustração e do sofrimento. Para isso a Arte deve se tornar instrumento para que seja dado um pleno sentido à vida. Assim, no cenário carnavalesco a vida transforma-se em Arte. Na produção das máscaras a Arte transforma-se em vida. Através da festa, deuses tão diferentes podem tornar-se próximos e presentes, marcando os recantos de ruas, praças, palcos, residências e ateliês. No templo de Delfos coabitavam Dionísio e Apolo, representados no frontão ocidental e oriental da clássica edificação (ECO, 2010). Cada um com seu poder, sua imponência, sua posição, sua função, indicava a importância da ordem e da desordem, da harmonia e do caos. A harmonia serena, entendida como ordem e medida, exprime-se naquela que Nietzsche chama de Beleza apolínea. Mas esta Beleza é ao mesmo tempo um anteparo que tenta cancelar a presença da Beleza dionosíaca, conturbadora, que não se exprime nas formas aparentes, mas além das aparências. É uma beleza alegre e perigosa, antítese da razão e frequentemente representada como possessão e loucura: é o lado noturno do suave céu ático, povoado de mistérios iniciáticos e obscuros ritos sacrificiais, como os mistérios eleusinos e os ritos dionisíacos. (ECO, 2010, p. 58).
Enquanto Pitágoras visualizou a oposição dos contrários, enaltecendo sempre um deles como representante da harmonia e da perfeição, Heráclito percebeu que os opostos traziam uma harmonia não a partir do detrimento de um, em relação ao outro, mas pela tensão que podiam gerar. A harmonia seria, assim, não a ausência de contrastes, mas um equilíbrio entre eles, em função de uma vida conjunta (ECO, 2010). Nietzsche reconheceu o valor da dualidade entre as duas divindades e os princípios por eles anexados. Buscou, assim, visualizar Continuando a Tecer...
417
uma unidade possível nesses elementos distintos, luta de contrários que possibilita um constante rebrotar criativo e artístico. Numa espécie de síntese e simbiose percebo o Carnaval dentro da tensão desses contrários: Apolo e Dionísio apresentam-se lado a lado. Sonho e embriaguês, forma e devaneio, beleza e liberação, trabalho e orgia, ordem e desordem, pares de opostos fundamentais para a realização da vida. A organização e planejamento da festa e dentro dela a multidão fascinada pele dança, música e encenação. A preparação e produção das máscaras e, nas ruas, o desfile ao lado dos conhecidos e da multidão de anônimos. Como resultado a criação, a novidade, o movimento e a ultrapassagem de um cotidiano e de uma realidade previsíveis. Apolo ensina e ordena com gesto belo, porém severo. Dionísio, em contrapartida, faz triunfar sua divina loucura e eis assim as duas faces da vida: ordem e desordem, seriedade e diversão, razão e alienação (ORTEGA Y GASSET, 1996). Os gregos não renunciaram a esses dois polos. E nós, como conseguimos nos apoiar sobre pilares tão diversos? A festa é uma “ultravida”: uma reunião de muitas tribos, a presença de outros se transformando em multidão. A dança, a bebida e a representação, tudo isso faz rebrotar na alma profundas emoções: uma outra existência superior e sublime (Dig. 06). No Carnaval os homens abandonam-se. Para abandonar-se é preciso deixar de “estar sobre si”, e isso significa que é preciso “pôr-se fora de si”, deixar de “ser si mesmo”, fazer-se outro, alheio a si - alienar-se. A entrega a Dionísio e a realidade transcendente que ele simboliza é a alienação, a loucura estática -“a mania”. (ORTEGA Y GASSET, 1996, p. 75).
Com o mascaramento a possibilidade de ser outro, um sonho realizável pela presença da máscara. “[...] nosso ser mais íntimo, o substrato comum de todos nós, experimenta o sonho com um prazer profundo e com uma alegre necessidade” (NIETZSCHE, 2007, p. 29). O sonho é possível pela interferência apolínea, deus de todas as faculdades criadoras de formas, deus da aparência e da Beleza. (Dig.07). Na desordem festiva Dionísio marca presença, pois “a vida Continuando a Tecer...
418
humana não é, e nem pode ser „exclusivamente‟ seriedade. Portanto, que a vida humana é, e tem que ser, em certos momentos „brincadeira‟, farsa” (ORTEGA Y GASSET, 1996, p. 47). Sob o encanto da pândega carnavalesca, da bebida, da música, os mascarados vivem outro sonho: o da identificação com o outro. Nesses dias de transfiguração Não é somente a aliança do homem com o homem que está selada novamente sob a magia do encantamento dionisíaco: a natureza alienada, inimiga ou subjugada, também celebra sua reconciliação com seu filho pródigo, o homem. (ORTEGA Y GASSET, 1996, p. 31).
No Carnaval uma síntese entre a embriagues, o devaneio, o devasso, o exagero e a forma, a beleza, a harmonia. Uma união de contrários que é ao mesmo tempo tensa e necessária. Com Apolo a dança, a música, a poética. Com Dionísio o rompimento das inibições, a superação da consciência e das restrições (Dig. 08 e 09). Ordem e desordem envoltas em uma linguagem única, onde humanos e nãohumanos formam o coletivo e estes um conjunto de cores, formas, estilos e sentimentos. Máscaras! Elas são criadas. Únicas. Dezenas. Centenas. Milhares. O artesão-artista qualquer que seja seu nível artístico, acadêmico ou cultural, imita a natureza. E aí ele cria. Dá forma a matéria dando vida à máscara. Essa é uma reconciliação com a própria natureza (Dig. 10). É como devemos considerá-lo quando, exaltado pela embriaguês dionisíaca até a mística renúncia de si mesmo, se prostra solitário, longe dos coros em delírio, e é então que, pela potência do sonho apolíneo, seu próprio estado, isto é, sua unidade, sua identificação com o fundo mais íntimo do universo, lhe é revelado numa alegoria do imaginário onírico (NIETZSCHE, 2007, p. 33).
Nessa festa que se repete a cada ano, tudo se cria, se renova, se faz diferente. É um jogo onde a Arte vive e revive a tradição. Como reconhece Nietzsche a Arte ajuda o homem promovendo a ultrapassagem de um cotidiano amorfo, e enfadonho e a vida como obra de Arte cria o devir. A festa dos mascarados é a concretização desses momentos Continuando a Tecer...
419
em que os indivíduos entram em um jogo estético, uma vida temporária de orgia e beleza. A festa deve ser promovida, incentivada, vivida, para que os agrupamentos não se percam. Esse é um movimento que precisa continuar. (LATOUR, 2012). A máscara, por sua vez, viabiliza a criação: de personagens, de metamoforses, de sentimentos. Ela aciona as pulsões regeneradoras da condição humana, ajudando a resgatar a ligação entre natureza e cultura. Não é um objeto passivo, mas algo que vive dentro de uma dinâmica. Para que isso permaneça se faz necessário que outros atores entrem em cena, formatando um conjunto de associações: uma rede de ligações. Seguindo os ensinamentos da deusa da tecelagem Atena e tendo a Lua como testemunha e participante, o planejamento, a destreza, a paciência e a criatividade se entrelaçam permitindo tecer o sagrado nos diversos atos da festa profana, encantada e reencantada pelos folguedos da tradição. Neles o medo, a vaidade, o segredo e o prazer são fios que dão forma e existência ao bordado da festa dionisíaca e apolínea, tornando possível a arte-vida dos mascarados e dos lugares.
Continuando a Tecer...
420
[Fig.01] A importância da brincadeira em grupo. (Acervo Graça Costa)
[Fig.02] A Beleza do Feio: máscara artesanal do Tabaqueiro, de autoria do mestre Beijamim. (Acervo Graça Costa)
Continuando a Tecer...
421
[Fig.03] A Beleza do Belo: máscara artesanal do Papangu, de autoria de Murilo Albuquerque. (Acervo Graça Costa)
[Fig.04] Construção identitária dos lugares a partir das máscaras: algo em movimento (Acervo Beijamim Almeida)
Continuando a Tecer...
422
BIBLIOGRAFIA
A filosofia faz surgir acontecimentos com seus conceitos, a arte ergue monumentos com suas sensações, a ciência constrói estados de coisas com suas funções. (DELEUSE; GUATTARI, 1992, p.255). A ciência tem duas faces: uma que sabe, outra que ainda não sabe. Ficaremos com a mais ignorante. (LATOUR, 2000, p.21).
Bibliografia
423
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O Perigo de uma Única História. TED Global, 2009. Disponível em: <http: //www.ted.com/ talks / lang/ptbr/ chimamanda _adichie_the _danger_of_a_single_story.html>. Acesso em: 15 dez. 2011. AGIER, Michel. Distúrbios Identitários em Tempos de Globalização. In: Mana [online]. 2001, v.7, n.2, pp. 7-33. ISSN 0104-9313. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid =S010493132001000200001. Acesso em: 13 abr. 2011. AMARAL, Rita. Festa à Brasileira: Sentidos do Festejar no País que "Não é Sério". 2011. Tese (Doutorado em Antropologia)- Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1998. Disponível em: www.teses.usp.br/teses /disponiveis/8/8134/tde.../tesecapa1.pdf. Acesso em: 06 fev. 2011. AMORIM, Luiz. A Casa: Espaços e Narrativas. In: LEITÃO, Lúcia; ______. (Org). A Casa Nossa de Cada Dia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. AMORIM, Maria Alice. A Farra era dos Bois: Maracatus e Trios Elétricos Dominam a Mata Norte. Disponível em: http://www.revivendomusicas. com. br/curiosidades_01.asp?id=118. Acesso em: 11 mai. 2012. AMORIM, Maria Alice; NOGUEIRA, Maria Aparecida; COSTA, Maria das Graças Vanderlei da. Tradição Viva: a Tradição sob a Égide da „Razão Aberta‟. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 14, v.21(1): 129-155 (2010). Disponível em: http://www.ufpe.br/ revistaanthropologicas /index.php /revista. Acesso em: 04 mar. 2012. ANDRADE, Mário de. Danças Dramáticas do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1986. ANJOS JR, Moacir dos. Quinze Notas sobre Identidade Cultural no Nordeste do Brasil Globalizado. In: Projeto Contraponto, 3. ed. Mesa-redonda Tradição e Contemporaneidade. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. AQUINO, Carolina. El Gran Libro de La Mitologia. Madrid: LIBSA, 2007. ARANTES, Antônio Augusto. O que é Cultura Popular? 14. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. ARAÚJO, Rita de Cássia B. de. Festas: Máscaras do Tempo. Entrudo, Mascarada e Frevo no Carnaval do Recife. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1996. AUGÉ, Marc. Por uma Antropologia dos Mundos Contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
Bibliografia
424
BACHELARD, Gaston, Prefácio para Dois Livros – A Imaginação Material e a Imaginação Falada In: BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios da Vontade – Ensaio sobre a Imaginação das Forças. Tradução de Paulo Neves da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1991. BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e Renascimento: O Contexto de François Rabelais. São Paulo: HUCITEC; Brasília: UNB, 2002. BALANDIER, Georges. A Desordem: Elogio do Movimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. BALI: Obra-Prima dos Deuses. Produção de Miriam Birch. Narração de Richad Kiley. National Geographic, Play Arte Vídeo, 1990. 1 DVD (52 min, color.). BANDUCCI JR., Álvaro; BARRETTO, Margarita (Org). Turismo e Identidade Local: Uma Visão Antropológica. Campinas, SP: Papirus, 2001. BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o Ensino da Arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001. BARRETO, Margarita. Relações entre Visitantes e Visitados: um Retrospecto dos Estudos Socioantropológicos. Turismo em Análise. v.15, n. 2, p. 133-149, 2004. BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: Um Manual Prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. BAUMAN, Zigmunt. Identidade: Entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. BEIJAMIM, Roberto. Os Ursos: uma Influência Européia num Carnaval Afro-brasileiro. Suplemento Cultural: O Carnaval de Pernambuco. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Ano XV Fevereiro de 2001. BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. (Obras escolhidas; v.1) 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade. Pluralismo e Crise de Sentido: a Orientação do Homem Moderno. Tradução de Edgar Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. BERREMAN, Gerald D. Etnografia e Controle de Impressões em uma Aldeia do Himalaia. In: ______. et al. Desvendando Máscaras Sociais. 1.ed. Seleção e Introdução de Alba Zaluar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1975. BITTER, Daniel. A Bandeira e a Máscara: Circulação de Objetos Rituais na Folias de Reis. Rio de Janeiro: 7 Letras; IPHAN/CNFCP, 2010.
Bibliografia
425
BORGES, Adélia. Design + Artesanato: o Caminho Brasileiro. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2011. BORGES, Jorge Luis. Outras Inquisições. Tradução de David Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças dos Velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BRANQUINHO, Fátima. Etnografia do Saber Científico e o Entendimento de Latour Sobre a Sociedade. In: NOGUEIRA, Maria Aparecida Lopes; ______. (Org). Dramaturgia dos Saberes. Sobre Trajetórias entre Natureza-Cultura e Sujeito-Objeto. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012. BRANQUINHO, Fátima Teresa Braga; SIRENA, Maria Lucia; MACHADO, Liliane; CASTRO, Rita de Cássia. Prática de Pesquisa, Arte e Antropologia das Ciências e das Técnicas. In: XVI CICLO DO IMAGINÁRIO- CONGRESSO INTERNACIONAL, Anais Recife, 2011. ______. Potes de Barro Cheios de Natureza e Conhecimento: Notas sobre a Possibilidade de Etnografia dos Objetos. ITACOATIARA: uma Revista Online de Cultura. 2011, vol.1, n.1, pp. 17-23. Disponível em: http://issuu.com/revista_itacoatiara/docs/revistaitacoatiara_v1_n1. Acesso em: 02 mai. 2012. ______. O Poder das Ervas na Sabedoria Popular e no Saber Científico. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. BRANQUINHO, Fátima Teresa Braga; SANTOS, Jacqueline da Silva. Antropologia da Ciência, Educação Ambiental e Agenda 21. Revista Educação e Realidade. 32(1): 109-122, jan/jun 2007. CAIXA CULTURAL. A Arte de J. Borges: do Cordel é Xilogravura. Rio de Janeiro: 2009. CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. CAMPE, Milena de Carvalho. O artista Contemporâneo na era da Produção Colaborativa. In IX POSCOM, GT Cultura e Tecnologiado IX Seminário de Alunos de Pós-Graduação em Comunicação da PUC, Rio, 2012. Disponível em: http://pucposcom-rj.com.br/wpcontent/uploads/2012/12/12-Milena-de-Carvalho-Campe.pdf. Acesso em: 15 out.2013. CAMPELLO, Sheila Maria Conde Rocha. Uma Proposta de Formação Continuada dos Professores de Artes Visuais por Meio da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação. 2001,181 f . Dissertação e Produção Imagética (Mestrado em Artes) Universidade de Brasília- UNB, 2001. Disponível em:http://www.arteduca.unb.br/biblioteca/dissertacao_proposta_arteduca. Bibliografia
426
pdf. Acesso em 15 out., 2013. CANCLINI, Nestor Garcia. As Culturas Populares no Capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Caminhos da Identidade: Ensaios sobre Etnicidade e Multiculturalismo. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: Paralelo 15, 2006. CARVALHO, Edgard de Assis. Prefácio. In: NOGUEIRA, Maria Aparecida. Almanaque: Toda a Oficina da Vida. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2008. CARVALHO, José Jorge. O Olhar Etnográfico e a Voz Subalterna. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 7, n. 15, pp. 107-147, jul 2001. ______. A Racionalidade Antropológica em Face do Segredo. Anuário Antropológico 84. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985. CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do Folclore. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2001. CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade - A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. v.2. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 1999. CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Carnaval: o Rito e o Tempo. Maria José Moreira (Org). Visões do Carnaval-Aspectos of CarnivalVisiones Del Carnival. Brasília: Gráfica Brasil, Ministério das Relações Exteriores- Direção-Geral Cultural, 2004. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência: Aspectos da Cultura Popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986. COLOMBO, Enzo. Descrever o social: a Arte de Escrever e Pesquisa Empírica. In: MELUCCI, Alberto. Por uma Sociologia Reflexiva: Pesquisa Qualitativa e Cultura. Petrópolis: Vozes, 2005. COSTA. Maria das Graças Vanderlei da. Os Caretas de Triunfo: a Força da Brincadeira. Recife: Edições Bagaço, 2009a. ______. Contação de Histórias: Tecendo Narrativas com os Fios dos Trabalhos Manuais. In: Maria Aparecida Lopes Nogueira; Maria do Socorro Figueiredo; Sandra Simone Moraes de Araújo. (Org.). O Bom Pensamento: Contadores, Narradores e Intérpretes. 1.ed. Recife: Editora universitária- UFPE, 2009b. DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
Bibliografia
427
DELEUSE, Guilles; GUATTARI, Félix. O Que é Filosofia? Tradução de Bento Prado Jr.; Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. DENZIN, K. ; LINCOLN, Y. O Sétimo Momento: Deixando o Passado Para Trás. In: O Planejamento da Pesquisa Qualitativa: Teorias e Abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. DERDYK, Edith. Linha de Horizonte: por uma Poética do Ato Criador. São Paulo: Escuta, 2001. ______. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Scipione, 1988. DESGRANGES, Flávio. A Pedagogia do Espectador. São Paulo: HUCITEC, 2003 DIAS, Manuel Graça; FERNANDES, José Manuel. Imaginários à solta em Lisboa. In: O Imaginário da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropológicas do Imaginário: Introdução à Arquetipologia Geral. 3. ed. SãoPaulo: Martins Fontes, 2002. ______. O Balanço Conceitual e o Novo Método para a Abordagem do Mito. In: ______. O Imaginário: Ensaio Acerca das Ciências e da Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2001. DURANTI, Alessandro. Linguistic Antthopology: a Reader. Oxford: Blackwell, 2001. ______. Antropologia Linguística. Tradução de Pedro Tena. Madrid: Cambridge University Press, 2000. DUVIGNAUD, Jean. Festas e Civilizações. Rio de Janeiro: Edições Universidade Federal do Ceará; Tempo Brasileiro, 1983. ECO, Humberto (Org). História da Feiúra. Tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: São Paulo: Editora Record, 2010. ______. (Org). História da Beleza. Tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: São Paulo: Editora Record, 2007. ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a Essência das Religiões. Lisboa: Libros do Brasil, 1992. ______. Aspectos do Mito. Lisboa: Ed. 70, 1986. ______. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972. FAVARETTO, Celso. Arte Contemporânea e Obra de Arte. (Palestra). Espaço Itaú Cultural, Rio de Janeiro, 1999.
Bibliografia
428
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a Análise do Discurso em Educação. Cadernos de Pesquisa, Printversion, n.114. São Paulo, nov. 2001. FONSECA, Gastão Cerquinha da. Afogados da Ingazeira: Retalhos de sua História. v.1. Afogados da Ingazeira: Ed. do autor, 2003. FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986. FRANÇA, Antônio Carlos. Carnaval, Conhecimento Intransitivo: Convite ao Desfile das Escolas de Samba. Maria José Moreira (Org) In: Visões do Carnaval-Aspectos of Carnival- Visiones Del Carnival. Brasília: Gráfica Brasil, Ministério das Relações Exteriores- Direção-Geral Cultural, 2004. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano. 5. ed. v. 01. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977. GASPAR, Lúcia. Entrudo. In: FUNDAJ. Biblioteca da Fundação Joaquin Nabuco. Disponível em: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/ 184. Acesso em: out. 2011. GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2002. GIUMBELLI, Emerson. Para Além do “Trabalho de Campo”: Reflexões Supostamente Malinowskianas. RBCS. v.17, n.48, fev.1992. GOMES, Pinharanda. Ensaios Etiológicos sobre a Máscara. In: FERREIRA, Hélder et al. Máscara Ibérica. Porto: Edições Caixotim, 2005. GOVERNO DE PERNAMBUCO. Bezerros- Série Monografias Municipais. Secretaria de Planejamento- Fundação de Informações para o Desenvolvimento de Pernambuco/ FIDEPE, 1982. GRIMAL, Pierre. Mitologia Clássica: Mitos, Deuses e Heróis. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009. GUSDORF, Georges. Professores para quê? Para uma Pedagogia da Pedagogia. São Paulo: Martins Fontes, 1995. HANNERZ, Ulf. Fluxos, Fronteiras, Híbridos: Palavras-chave da Antropologia Transnacional. Mana v.3, n.1. Rio de Janeiro, Apr. 1997 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Tradução Tomaz T. da Silva, Guaracira Lopes Louro - 11.ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2006. HÉLIO, Mário. A Carne das Imagens. In: SANTOS, Luiz; OLIVEIRA, Celso. A Corte Vai Passar: Um Olhar Sobre o Carnaval de Pernambuco/Fotografias . Fortaleza: Tempo d‟Imagem, 2001.
Bibliografia
429
HOBSBAWM, Eric. O Novo Século: Entrevista a Antônio Polito. Tradução Claudio Marcondes. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. HOFFNAGEL, Judith Chambliss. Temas em Antropologia e Lingüística. Recife: Bagaço, 2010. HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento: a Gramática Moral dos Conflitos Sociais. Tradução de Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. HUIZINGA, Johann. Homo Ludens. Perspectiva: São Paulo, 1999. IBGE. 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ topwindow.htm?1. Acesso em: 13 jul. 2011. KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Cultura da Violência e o Medo do Outro: Observações sobre medos, Violência e Juventude no Brasil Atual. Revista de Antropología Experimental. n.4. Universidad de Jaén (España), 2004 Disponível em: http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2004 /kury022004.pdf. Acesso em: 07 set. 2012. KURY, Mário da Gama. Dicionário de Mitologia Grega e Romana. 8.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. LATOUR, Bruno. Reagregando o Social: uma Introdução à Teoria do Ator-Rede. Edufba, 2012; Bauru, São Paulo: EDUSC, 2012. ______. Paris, Vila Invisível: o Plasma. Tradução Marcus Vinícius de Abreu Baccega. PONTOURB- Revista do Núcleo de Antropologia Urbana - USP . São Paulo, Ano 3, Dezembro 2010. Disponível em: http://www.pontourbe.net/edicao5-traducao. Acesso em: 04 ago. 2013. ______. Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. Tradução Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2009. ______.Políticas da Natureza: Como Fazer Ciência na Democracia. Carlos Aurelio Mota de Souza. Bauru, SP: EDUSC, 2004. ______. A Esperança de Pandora: Ensaios sobre a Realidade dos Estudos Científicos. Tradução de Gilson César Cardoso de Souza. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2001. ______.Ciência em Ação. Como Seguir Cientistas e Engenheiros Sociedade Afora. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: Editora UNESP, 2000. LATOUR, Bruno; HERMANT, Emilie. Paris, Ville Invisible, 1998. Disponível em: http://www.bruno-latour.fr/virtual/EN/index.html. Acesso em: 04 ago. 2013. LATOUR, Bruno; WOOLGAR, S. A Etnografia das Ciências In: A Vida de Laboratório; A Produção dos Fatos Científicos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997. Bibliografia
430
LE BRETON, David. A Sociologia do Corpo. 2.ed. Tradução de Sonia M.S Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. LEITÃO, Cláudia Soares Sousa. Por Uma Ética da Estética: Uma Reflexão Acerca da “Ética Armorial” Nordestina. Fortaleza: UECE, 1997. LÉVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o Cozido. Mitológicas 1. São Paulo: Cosac Naify, 2004. ______. Antropologia Estrutural. Tradução Chaim Samuel Katz e Eginardo Pires. 6.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003 ______. Mito e Significado. Tradução de António Marques Bessa. Lisboa: Edições 70, 2000. ______. Olhares sobre os Objetos. In:______. Olhar, Escutar, Ler. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. ______. O Pensamento Selvagem. Campinas, São Paulo: Papirus, 1989. ______. A Via das Máscaras. Lisboa: Editorial Presença, 1979. ______. Totemismo Hoje. Tradução de Malcolm Bruce Corrie. Petrópolis, Vozes, 1975. LIMA, Claudia. História do Carnaval. Edição Especial/2001, Ano V. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife-Secretaria de Turismo- Secretaria da Cultura, 2001. LODY, Raul. Carnaval, Mostra tua Cara. In: SANTOS, Luiz; OLIVEIRA, Celso. A Corte Vai Passar: Um Olhar Sobre o Carnaval de Pernambuco/Fotografias. Fortaleza: Tempo d‟Imagem, 2001. LOPES, Diana Rodrigues. Triunpho: a Corte do Sertão. 1. ed. Santa Cruz da Baixa Verde: Gráfica Folha do Interior, 2003. LUCAS, Maria Clara de Almeida. A Cidade Celeste na Hagiografia Medieval Portuguesa. In: O Imaginário da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. MACHADO, Roberto. Deleuse, a Arte e a Filosofia- Rio de Janeiro: Zahar, 2009. MAFFESOLI, Michel. O Mistério da Conjunção: Ensaios sobre Comunicação, Corpo e Sociedade. Porto Alegre: Sulina, 2005. ______. Notas sobre a Pós-Modernidade: O Lugar Faz o Elo. Rio de Janeiro: Atlântica Editora, 2004. ______. O Instante Eterno: o Retorno do Trágico nas Sociedades Pós-modernas. Tradução de Rogério de Almeida, Alexandre Dias. São Paulo: Zouk, 2003.
Bibliografia
431
______. No Fundo das Aparências. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1996. ______. O Tempo das Tribos: o Declínio do Individualismo nas Sociedades de Massa. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. ______. A Sombra de Dionísio: Contribuição a uma Sociologia da Orgia. Tradução de Aluizio Ramos Trinta. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. ______. O Conhecimento do Quotidiano. Lisboa: VEGA, [S.I.]. MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. 3.ed. São Paulo: Hucitec; UNESP, 2003. MALIGHETTI, Roberto. Etnografia e Trabalho de Campo: Autor, Autoridade e Autorização de Discursos. Caderno Pós Ciências Sociais - São Luís, v. 1, n. 1, jan./jul. 2004. MARLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Editora, 1994. MAUSS, Marcel. Esboço de uma Teoria Geral da Magia. Tradução Paulo Neves. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac Naify, 2003a. ______. Ensaio sobre a Dádiva: Forma e Razão da Troca nas Sociedades Arcaicas. Tradução Paulo Neves. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac Naify, 2003b. ______. As Técnicas do Corpo. In: Sociologia e Antropologia. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2003c. MELO, Erisvelton Sávio Silva de. Sou Cigano Sim: uma Etnografia sobre os Ciganos na Região Metropolitana do Recife-PE. 2008. 142 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. MELUCCI, Alberto. Conclusões: Métodos Qualitativos e Pesquisa Reflexiva. In:______. Por uma Sociologia Reflexiva: Pesquisa Qualitativa e Cultura. Petrópolis: Vozes, 2005. MEYER, Marlyse. Pirineus, Caiçaras... da Commedia Dell’arte ao Bumba-meu-Boi. 2. ed. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1991. MITOGRAFIAS. Disponível em: http://www .mitografias .com.br / 2010/03/06/ mitologia-africana-deus-exu/ Acesso em: 01 abr. 2010. MORIN, Edgar. O Método 5: a Humanidade da Humanidade. Tradução de Juremir Machado da Silva. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. ______. O Duplo Pensamento (Mythos-Logos) In: ______. O Método III – O Conhecimento do Conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2005a.
Bibliografia
432
______. Cultura de Massas no Século XX: Neurose. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005b. ______. Da Culturanálise à Política Cultural. In: MARGEM, São Paulo, n. 16, p. 183-221, dez. 2002a. ______. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2002b. ______. O Paradigma Perdido; a Natureza Humana. 6. ed. Lisboa: Publicações Europa- América, 2000. MÜLLER, Elaine; CAMPOS, Marcelo Pereira de Siqueira; SILVA, Walter Ramos de Arruda. Feira e Festa do Anonimato: os Papangus de São Caetano. São Luis. In: VIII REUNIÃO DE ANTROPÓLOGOS DO NORTE-NORDESTE, Anais, São Luis 2003. NECKEL, Nádia Regia Maffi. O que é Arte? Uma questão de Historicidade? Revista Ciência em Curso. v.4, n.2, jan- mar. 2009. Disponível em: http://www.cienciaemcurso .unisul.br/interna_capitulo. php?id_capitulo=81. Acesso em: 29 mai 2013. NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Tradução Antônio Carlos Braga. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, n.45 Braga. 2.ed. São Paulo: Editora Escala, 2008. ______. Miscelânea de Opiniões e Sentenças. Tradução Antônio Carlos Braga. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, n.84. São Paulo: Editora Escala, 2007. ______. Humano, Demasiadamente Humano. Tradução Antônio Carlos Braga. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, n.42. 3 ed. São Paulo: Editora Escala, 2006. NOGUEIRA, Maria Aparecida. A Memória Como Idioma de Larvas Incendiadas. No prelo, 2011. ______. A Criatividade como Sopro que Articula Arte e Ciência, In: VII Forum de Educação Ambiental. Arte, Educação Ambiental e Rede Sociotécnica: um Caminho para a Espiritualidade. Rio de Janeiro, UERJ, set. 2010. ______. Almanaque: Toda a Oficina da Vida. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2008. ______. A Máscara e a Dobra que Vai ao Infinito. In: COSTA. Maria das Graças Vanderlei da. Os Caretas de Triunfo: a Força da Brincadeira. Recife: Edições Bagaço, 2009. ______. O Cabreiro Tresmalhado: Ariano Suassuna e a Universalidade da Cultura. São Paulo: Palas Athena, 2002. Bibliografia
433
______. A Cidade Imaginada ou o Imaginário da Cidade. História, Ciências, Saúde. Manguinhos. v. 01. 115-123 mar-jun. 1998. OLIVEIRA, João Pacheco de. Os Instrumentos de Bordo: Expectativas e Possibilidades do Trabalho do Antropólogo em Laudas Periciais. In: ______. (Org). Indigenismo e Territorização: Poderes Rotinas, Saberes Coloniais no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria Ltda, 1998. ORSENNA, Erik. In: Masques à Dèmasquer - Musée Barbier- Mueller. 35e anniversaire-1977-2012. Géneve: Vacheron Constantin, 2012. ORTEGA Y GASSET, José. A Idéia do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1991. Coleção Elos. OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. 6.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1987. PEIRANO, Mariza. A Favor da Etnografia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. PIERI, Paolo Francesco. Dicionário Junguiano. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2002. PIRES, Fernando. Afogados da Ingazeira "Memórias". Recife: Ed. do Autor, Edições Edificantes, 2004. PLATÃO. Livro VII. In: A República. São Paulo: Martin Claret, 2002. PREFEITURA DO RECIFE. Cartilha do Carnaval. Fundação de Cultura Cidade do Recife. Recife 2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco- jan. 2004/2008. Afogados da Ingazeira, 2008. ______. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria Pedagógica- Divisão de Ensino. Subsídios para o Ensino Geo-Histórico do Município de Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira, 2006. ______. Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira, 1997. PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS. Característica da Cidade. Disponível em: http://www.bezerros.pe.gov.br/Bezerros/ caracteristica. aspx. Acesso em: 15 jul. 2011. RANCI, Constanci. Relações Difíceis: a Interação entre Pesquisadores e Atores Sociais. In: MELUCCI, Alberto. Por uma Sociologia Reflexiva: Pesquisa Quantitativa e Cultura. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.
Bibliografia
434
REAL, Katarina. O Folclore no Carnaval do Recife. 2.ed. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1990. RECKERT, Stephen. O Signo da Cidade. In: O Imaginário da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. RIBEIRO, Berta G. As Artes da Vida do Indígena Brasileiro. In: DONISETE, Luís; GRUPIONI, Benzi (Org). In: Índios no Brasil. 4. ed.; Brasília: MEC, 2000. ROUANET, Sergio Paulo. Aspectos Subjetivos da Cidade. In: A Casa Nossa de Cada Dia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. SÁ, Charles; GONTIJO Natale. Os Mistérios da Vaidade Humana. Rio de Janeiro: Quality, 2010. SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Espaço e Tempo, Razão e Emoção. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. SARTRE, Jean-Paul. Esboço de uma Teoria das Emoções; tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2010. SAVILLE-TROIKE, Muriel. The Ethnography of Communication. Oxford, Blackwell, 1982. SCHMITT, Éric Emmanuel. In: Masques à Dèmasquer - Musée BarbierMueller. 35e anniversaire-1977-2012. Géneve: Vacheron Constantin, 2012. SILVA, Leonardo Dantas. Pré História de um Carnaval. In: Folclore no Carnaval do Recife. 2.ed.Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1990. SILVA, Tomaz Tadeu da. A Produção social da Identidade e da Diferença. In: ______. et al. Identidade e Diferença; a Perspectiva dos Estudos Culturais. 9.ed. – Petrópolis, RJ; Vozes, 2009. SIMMEL, Georg. O Segredo. In: Política e Trabalho: Revista de Ciências Sociais. Tradução Simone Maldonado. Paraíba: PPGA/UFPB. n. 15, setembro 1999. Disponível em:<http//www.google.com.br/cassandra_veras.tripod. com/sociologia/simmel georg.htm>Acesso em: 25 abr. 2010. SINGLY, François de. Uns com os Outros: Quando o Individualismo Cria Laços. Lisboa: Instituto Piaget, 2006 SOARES, Rosa. Assim Nasceu o Papangu. ARAÚJO, Sivonaldo (Org). In: Máscaras de Bezerros. Masks from Bezerros. Homenagem aos 100 anos do Papangu. Recife: Funcultura, 2007. SOUSA SANTOS, Boaventura de. Um Discurso Sobre as Ciências. Porto: Edições Afrontamento, 1988.
Bibliografia
435
SOUTO MAIOR, Ronaldo J. Bezerros, seus Fatos e sua Gente. v.1. Recife: Ed. do autor, 2005. ______. Bezerros, seus Fatos e sua Gente. v.2; Instituto de Estudos Históricos , Arte e Folclore de Bezerros. Bezerros: Editora Universitária, 2010. SUASSUNA, Ariano. Iniciação à Estética. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. TURNER, Victor W. O Processo Ritual: Estrutura e Anti-Estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974. VIEIRA, Carolina Detoni Marques. Dostoiévski e a Questão do Duplo. In: Psicanálise e Barroco em Revista. v.8, n.1: 14-32, jul.2010 Disponível em: http://www.psicanaliseebarroco.pro.br/revista/revistas/15/P%26Brev15 Detoni.pdf. Acesso em: 23 mai. 2013. WOODWARD, Kathryn. Identidade e Diferença: uma Introdução Teórica e Conceitual. In: SILVA et al. Identidade e Diferença; a Perspectiva dos Estudos Culturais. 9.ed. – Petrópolis, RJ; Vozes, 2009. ZUMTHOR, Paul. Tradição e Esquecimento. São Paulo: Editora Hucitec, 1997. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ANDRADE, D. S. Dinâmica Simbólica e Turismo: Bezerros/PE. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Brasília: UnB, 2004 ARAÚJO, Rita de Cássia Barbosa de. Carnaval no Nordeste do Brasil, 2009. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 10 mar. 2012. ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore Nacional Festas, Bailados, Mitos e Lendas. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. ACSELRAD, Maria. Viva Pareia! Corpo, Dança e Brincadeira do Cavalo Marinho de Pernambuco. Recife: Ed. Universidade da UFPE, 2013. BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar. São Paulo: DIFEL, 1985. BATESON, Gregory. Natureza e Espírito. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987. BORBA, Alfredo. Brincantes. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Coleção Malungo, v.3, 2000. BOSI, Alfredo. Cultura como Tradição. In: Cultura Brasileira: Tradição Contradição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; FUNARTE, 1987 Bibliografia
436
BRAYNER. P. V. de A. Papangu, Mascarado, Bloco Carnavalesco e Brincadeiras. (Monografia) Pós-Graduação em História de Pernambuco. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia: Histórias de Deuses e Heróis. Tradução David Jardim Júnior. 31. ed. Rio de Janeiro. Editora: Ediouro, 2004. CANCLINI, Nestor. Artes Visuais: das Vanguardas à Arte-jato. Cap. 6. – De Paris a Miami Passando por Nova York; Apêndice – Para uma Antropologia dos Mal-entendidos (Discussão de método para a interculturalidade). In: A Globalização Imaginada. Tradução Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003. CARVALHO, Edgard de Assis. Imagens da Tradição. In: ______. Dentro do Texto, Dentro da Vida: Ensaios sobre Antônio Cândido. São Paulo: Companhia das Letras ; Instituto Moreira Salles, 1992. CARVALHO, Nelly; MOTA, Sophia Karla; BARRETO, José Ricardo Paes. Dicionário do Frevo. Recife: Ed. Universitário UFPE, 2000 CARRARA, Sergio. Uma Tempestade Chamada Latour: a Antropologia da Ciência em Perspectiva. PHISIS –Revista Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 12(1): 179-203. 2002. Disponível em: http://www.scielo..br/scielo.php? pid=S0103-73312002000100012&script=sci_arttext.Acesso em:04 jul. 2013. CASSÉ, Michel; MORIN, Edgar. Filhos do Céu: Entre Vazio, Luz e Matéria. Tradução Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008 ______. A Praça da Matriz Como Palco da Folia de Papangu e das Manifestações Populares de Bezerros. (Monografia) Pós-graduação em Ensino de Geografia. Caruaru: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, 1999. DOSTOIÉVSKI, Fiódor Mikhailovich “O duplo”. In: ______. Obras Completas e Ilustradas de Dostoiévski. v. IX.. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1960. FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. London: Pluto Press, 1986. FERREIRA, Hélder et al. Máscara Ibérica. Porto: Edições Caixotim, 2005. FERREIRA, Lúcia M. A.; ORRICO, Evelyn G. D. (Org.) Linguagem, Identidade e Memória Social: Novas Franteiras, Novas Articulações. Rio de Janeiro: DP &A, 2002. FONTE FILHO, Carlos da. Espetáculos Populares de Pernambuco. Recife: CEPE- Companhia Editora de Pernambuco, 1998. FREIRE, Teotônio. Carnaval do Recife. In: SILVA, Leonardo Dantas; Bibliografia
437
SOUTO MAIOR (Orgs.). Antologia do Carnaval do Recife. Recife, Massangana / FUNDAJ, 1991. FUNDARPE. Cadernos de Narrativas da Cultura Pernambucana. LUDERMIR, Chico, et al. MINDÊLO, Olívia; LUDERMIR, Chico (Orgs). Recife: Secretaria de Cultura, 2013. GENEST , Émile; FÉRON , DESMURGER, Marguerite. As Mais Belas Lendas da Mitologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia dos Objetos. Ministério da Cultura; IPHAN; Departamento de Museus e Centros Culturais. Rio de Janeiro: Coleções, Museus e Patrimônios, 2007. Disponível em:http:// naui.ufsc.br/files/2010/09/antropologia_dos_objetos_V41.pdf. Acesso em: out. 2013. GOVERNO do ESTADO. Suplemento Cultural: O Carnaval de Pernambuco. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Ano XV - Fevereiro de 2001. ______. Suplemento Cultural: O Carnaval de Pernambuco. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Ano XV-Setembro de 2000. GOVERNO de PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Caderno de Cultura Pernambuco. Travessia: Programa de Acerelação de Estudos de Pernambuco, 2002 KLINTOWITZ, Jacob. Máscaras Brasileiras. Projeto Cultural Rhodia. São Paulo: Raízes Artes Gráficas Ltda., 1986. LATOUR, Bruno.. Reflexão Ao Culto Moderno Aos Deuses Fe(I)Tiches. Tradução: Sandra Moreira Bauru, São Paulo: EDUSC, 2002. JUNG, Carl Gustav. O Homem e Seus Símbolos. Edição especial brasileira. Tradução de Maria Lúcia Pinho. Rio de Janeiro Editora: Nova Fronteira, 2002. MALDONADO, Simone Carneiro. Breve Incursão pela Sociologia do Segredo In: Política e Trabalho: Revista de Ciências Sociais. Paraíba: PPGA/UFPB, n. 15, set. 1999. Disponível em: <http//www.google.com.br/cassandra_veras.tripod.com/sociologia/ simmel/georg.htm> Acesso em: 17 out. 2010. MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A Árvore do Conhecimento: As Bases Biológicas do Entendimento Humano. Campinas: Editorial Psy II, 1995. MELLO, Moraes Filho. Festas e Tradições Populares do Brasil. Belo Horizonte/ Rio de janeoro: Editora Itatiaia, 1999. MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: O Espíritodo Tempo IINecrose. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
Bibliografia
438
NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Corporeidade e Educação Física: do CorpoObjeto ao Corpo-Sujeito. 2ed. Natal, RN: Editora da UFRN, 2005. PAIVA, Maria das Graças de Menezes V. Sociologia do Turismo. Campinas, SP: Papirus, 1995. PESSOA, Fernando. Obras Escolhidas: Edição Comemorativa do Cinqüentenário da Morte do Poeta. v.3. Lisboa/ São Paulo: Editorial Verbo, 1985. PRIGOGINE, Ilya. Ciência, Razão e Paixão. 2.ed.rev. e ampl. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009. RAMOS, Eliana Maria de Queiroz; MACIEL, Betânia. Papangus como ferramenta folkcomunicacional do turismo em Bezerros (PE). In: Revista Internacional de Folkcomunicação, v. 1– 13, 2009. Disponível em: http://www.eventos.uepg.br/ojs2_revistas/index.php?journal= folkcom&page=article&op=view&path%5B%5D=922. Acesso em: 10 mai 2009. SIGNORINI, Inês (Org). Língua(gem) e Identidade: Elementos para uma Discussão no Campo Aplicado. São Paulo, 1998: FAPESP, FAEP/UNICAMP, Mercado Letras. SHELDRAKE, Rupert. O Renascimento da Natureza: o Florescimento da Ciência e de Deus. São Paulo: Cultrix, 1997. SILVA, Affonso M. Furtado da. Reis Magos: História, Arte, Tradições: Fontes e Referências. Rio de Janeiro: Leo Chistiano Editorial, 2006. SILVA, Leonardo Dantas (Org.). Blocos Carnavalescos do Recife: origens e repertório. Recife: Companhia Editora de Pernambuco CEP, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Trabalho e Ação Social, Fundo de Trabalho ao Trabalhador, 1998. SHELDRAKE, Rupert. O Renascimento da Natureza: o Florescimento da Ciência e de Deus. São Paulo: Cultrix, 1997. SOUTO MAIOR, Mário Boaventura; VALENTE, Valdemar de Figueiredo (Org). Antologia Pernambucana de Folclore. Recife: Massangana, 1998. TIZA, António Pinelo. Inverno Mágico: Ritos e Mistérios Transmontanos. Lisboa: Ésquilo, 2004. VARGAS LLOSA, Mario. O Falador. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
Bibliografia
439
APÊNDICES
E, para manter a cultura em movimento, as pessoas, enquanto atores e redes de atores, têm de inventar cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-la (ou armazená-la de alguma outra maneira), discuti-la e transmiti-la (HANNERZ, 1997). Compreendemos agora que, se o antropólogo de tempos passados tinha tanta atenção pela multiplicidade das culturas, era porque dava por adquirida a natureza universal. (LATOUR, 2004, p.88).
Apêndices
440
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
441
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
442
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
443
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
444
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
445
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
446
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
447
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
448
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
449
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
450
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
451
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
452
ApĂŞndice A- RegiĂľes de Desenvolvimento de Pernambuco.
453
ApĂŞndice B - Informantes
454
ApĂŞndice B - Informantes
455
ApĂŞndice B - Informantes
456
ApĂŞndice B - Informantes
457
ApĂŞndice B - Informantes
458
ApĂŞndice C: ItinerĂĄrio para Bezerros e Afogados da Ingazeira
459
ApĂŞndice D: Limites de Bezerros e Afogados da Ingazeira.
460
Apêndice E- Ficha 01- Máscaras e Mascarados de PE
461
Apêndice F-Ficha 02- Máscaras e Mascarados de PE
462
ApĂŞndice G - Prazeres do Campo
463
Apêndice H: Artesãos-Artistas/ Ateliês – Bezerros.
464
Apêndice H: Artistas-Artesãos / Ateliês – Bezerros.
465
Apêndice H: Artistas-Artesãos / Ateliês – Bezerros.
466
ANEXOS
A partir da arte, pode-se em seguida passar mais facilmente a uma ciência filosófica realmente libertadora. (NIETZSCHE, 2006, p. 53). Estudamos a ciência em ação, e não a ciência ou a tecnologia pronta; para isso, ou chegamos antes que os fatos e máquinas se tenham transformado em caixaspretas, ou acompanhamos as controvérsias que as reabrem. (LATOUR, 2000, p.421).
Anexos
467
Anexo A- Propaganda Institucional
468
Anexo B Folders Lojas de Mascaras- Veneza