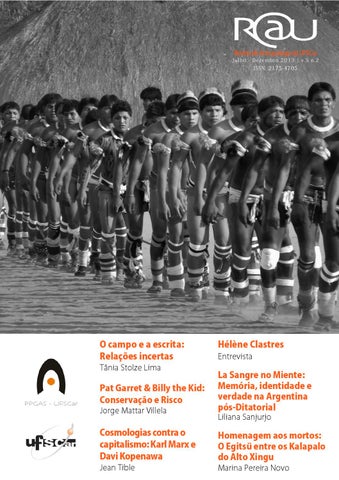O campo e a escrita: Relações incertas
Hélène Clastres !
!
La Sangre no Miente: Memória, identidade e verdade na Argentina pós-Ditatorial
Tânia Stolze Lima
PPGAS - UFSCar
Pat Garret & Billy the Kid: Conservação e Risco Jorge Mattar Villela
!
Cosmologias contra o capitalismo: Karl Marx e Davi Kopenawa Jean Tible
Entrevista
!
Liliana Sanjurjo
!
Homenagem aos mortos: O Egitsü entre os Kalapalo do Alto Xingu
!
Marina Pereira Novo