Umbıgo do sonho
Umbigo do sonho:
o cinema de Paula Gaitán
8 – 14 jun 2023 CineSesc

 Memória da memória (2013)
Memória da memória (2013)
O cinema de Paula Gaitán Ava
rio, Negro Leo Juliano Gomes
171
Refundar esta terra Victor Guimarães 175
Desvio para o verde Juliana Costa 181
Vermelho-azul
Lorenna Rocha
185
Montagem como ritmo, câmera como pincel: uma conversa com Paula Gaitán
Lorenna Rocha e Renan Eduardo 189
Dramaturgias esculturais: uma conversa com Paula Gaitán
Marcelo Miranda e Pedro Henrique Ferreira 203
O cinema de Paula Gaitán
Ava Rocha curadoraAo escolher o nome “umbigo do sonho” para a sua mostra, Paula Gaitán nos incita a pensar que em seus filmes há a presença de um desconhecido diante do qual não há nada mais, a não ser a permanência da própria presença do insondável e que essa inquietação ou premissa a move impulsivamente em seu cinema como um rio que percorre fluxos até desaguar no mar, seguindo o ciclo, em permanente movimento.
Assim, Paula desafia a linguagem do cinema colocando-o não como uma plataforma de expressão do real, mas sim como um veículo quase que espiritual de aproximação com o misterioso. Como artista multidisciplinar, cujo cinema explora os territórios da fotografia, das artes visuais, da performance e da música, Paula Gaitán rompe barreiras entre gêneros, tecendo uma obra autêntica que amplia o olhar da percepção cinematográfica. Em seu fazer artístico, destaca-se também o fato de assumir diversas frentes de produção, como a fotografia, a montagem e o desenho sonoro de seus filmes, e sendo presença física em voz e/ou corpo em vários deles. Diário de Sintra, onde percorre Portugal empunhando sua câmera, e Ópera dos cachorros, onde revela-se como compositora e cantora, são fortes exemplos dessa multiplicidade e organicidade em seu modo de produção/criação.

Poeta nata, aos 8 anos de idade escreveu seus primeiros poemas em Bonn, na Alemanha, e aos 14 anos já publicava seus poemas em revistas, fazendo parte inclusive de antologias de poesia colombiana. Desenhista, também ingressou na universidade “Los Andes” em Bogotá, onde estudou Artes Plásticas, e posteriormente ao comprar sua primeira Super-8 ligou-se ao cinema, onde também assina direção de arte, figurinos e cartazes, principalmente em colaboração com Glauber Rocha, no filme A idade da terra, no storyboard de Os nascimento dos deuses, no cartaz de Cabezas cortadas e na capa do livro Riverão Sussuarana. Inquieto, livre e radical, o cinema de Paula Gaitán é dotado da relação apaixonada entre seu olhar e o que é olhado. A câmera parece ser uma extensão do corpo, que em um processo quase arqueológico manifesta a curiosidade e a investigação na qual ela mergulha, sem nunca ser simplesmente didática ou representativa. Ao contrário, busca revelar enigmas e até mesmo criar outros. Entre o documentário e o onírico, a ficção e o real, Paula Gaitán se coloca a serviço do seu próprio fluxo e imaginação na relação com o mundo que a rodeia. Um cinema que emerge do umbigo do sonho e nele mergulha, simbioticamente. Tendo 50 anos de vida artística e cinematográfica, também ditou classes de cinema, e foi reconhecida e premiada por diversos críticos e festivais, que autenticam a relevância de sua obra.
A mostra “Umbigo do sonho: o cinema de Paula Gaitán” celebra então, pela primeira vez em São Paulo – e dando continuidade a outras homenagens recentes – a obra dessa cineasta, exibindo grande parte de sua produção cinematográfica, além de promover debates e uma atividade formativa através da masterclass.
Uma belíssima oportunidade de nos aprofundarmos em sua arte, vida e processo, em um espaço de permanente reflexão e êxtase cinematográfico, e por fim destacar Paula Gaitán como uma das mais importantes cineastas contemporâneas em atividade.

Filmes da mostra
 ← Poema escrito por Paula Gaitán aos 8 anos de idade em Bonn, na Alemanha
← Poema escrito por Paula Gaitán aos 8 anos de idade em Bonn, na Alemanha
Brasil, 1988, documentário, 77 min
Primeiro longa-metragem realizado por Paula Gaitán. Este documentário é uma profunda imersão na vida e tradições do povo Kamaiurá. Sua lente registra a cerimônia do Kuarup, ritual fúnebre disseminado entre os povos do Alto Xingu. Desse retrato se desprende a força cultural de um povo e uma ambição de diversidade que a História quis negar. No Xingu, o Kuarup – um grande evento festivo em que os homens roubam o fogo divino, espalhando-o pela terra – é celebrado todos os anos na aldeia Kamaiurá. Nove tribos participam do ritual ao som de flautas de uruá, onde estão presentes os pajés Tacumá, Sapaim e Prepori, entre outros.

elenco: Ianaculá Rodarte, Takumã Kamauirá, Aritana • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistente de direção: Bruno Wainer • direção de produção: Tito Almeijeiras, Paulo Callado • assistência de produção: Cláudia Schuch, Mariza Levacov • produção executiva: Tarcísio Vidigal • assistência de produção executiva: Hilton Kauffmann • fotografia e câmera: Johnny Howard • assistência de câmera: Marcos Avellar • som direto: Mauro Duque Estrada • montagem: Aida Marques, Paula Gaitán • assistência de montagem: Dudu Albuquerque, Paulo Pestana, Keila Grace, Judith Vieira • edição de som: Carlos Alberto Camuyrano, Paula Gaitán • som especial: Geraldo José • abertura e letreiros: Jair de Souza, Valéria Naslausky • trucagem: Ronald Palatinik • texto: José Joffily • laboratório: Líder Cine • mixagem e transcrição: Álamo • técnico de mixagem: Eduardo dos Santos • equipe Brasília fotografia e câmera: Gilberto Otero • assistência de câmera: Nélio Ferreira • direção de produção: Nélvia Pinheiro • assistência de produção: Fátima Leite • som direto: Armandão

LygiaPape

Brasil, 1991, documentário/ficção, 42 min.

Um filme sobre a obra da artista plástica Lygia Pape. O filme parte das instalações de Lygia Pape para recriar seu universo visual e sonoro.
elenco: Lygia Pape • participação especial: Guará Rodrigues • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • assistência de direção: Claudia Schuch • direção de produção: Dora Maria Lima • coordenação de produção: Everardo Miranda • produção: Luiz Carlos Godinho • assistência de produção: Margareth Fernandes • assistência de set: Claudinho • fotografia: Dib Lufti • câmera adicional: Johnny Howard • eletricista: Nestor Eduardo Segovia • assistência de elétrica: Leônidas de Souza • montagem: Ana Rosa Donadio • roteiro de edição: Paula Gaitán, Dudu Albuquerque • finalização de imagens: Silvio Albano • design sonoro: Paula Gaitán, Lygia Pape, Carlos Alberto Camuyrano • mixagem: Roberto Carvalho, Rob Filmes • operação de VT: Alberto Campos Brito, Reynaldo Zangrandi Jr.
Azul
Colômbia, 1998, ficção, 16 min
Ensaio cinematográfico realizado na Colômbia na lagoa de ToTa em Boyacá. Variações do Azul, homenagem ao artista francês Yves Klein, inventor a partir de um pigmento azul ultramarino do que veio a ser sua fórmula patenteada conhecida como International Klein Blue (IKB), em 1960.

elenco: Maíra Senise, Juan Pablo Shuk, Torek Izáciga Correa, Carlos Mosquera • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • direção de fotografia: Jorge Perea Latorre

Diário de Sintra
Brasil/Portugal, 2007, documentário, 90 min.
Diário de Sintra propõe um percurso da memória involuntária, das experiências sensíveis que remetem ao passado. Imagens que ultrapassam a memória e comunicam apenas uma parte de seu segredo, transformam o tempo perdido em tempo redescoberto. Retorno a Portugal 25 anos depois. Retorno ao passado extinto, real e imaginário. As fotos de Glauber Rocha permanecem no tempo, mas os acontecimentos são fluxos: o fluxo do rio, da árvore e do ar.

elenco: Maíra Senise, Daniela • participação especial: Ava Rocha, Eryk Rocha, Paula Guedes, Paulo Rocha, Rui Simões • vozes off: Glauber Rocha, Ava Rocha, Eryk Rocha, Paula Gaitán, Tambla, Matilde, Maiakóvski, Maíra Senise • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistência de direção: Clara Linhart • segunda assistência de direção: José Quental, Luis Félix Oliveira • produção executiva: Eryk Rocha, Leonardo Edde, Eduardo Albergaria • direção de produção: Daniela Martins • produção: Claudia Tomaz • direção de fotografia: Pedro Urano • fotografia adicional (Super-8 e fotografias): Paula Gaitán • som direto: Nilson Primitiv
• ontagem: Daniel Paiva, Paula Gaitán • design sonoro: Paula Gaitán, Edson Secco • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora
original: Edson Secco • intérprete: Ava Rocha • arte gráfica: Clarisse Sá
Earp • finalização: Link Digital • empresa produtora: Aruac Produções, Urca Filmes • coprodução: Filmes do Tejo – Maria João Mayer

Monsanto
Brasil, 2008, documentário/ficção/experimental, 21 min.


A passagem pela cidade de Monsanto, em Portugal, é marcada pelo entrelaçamento da natureza com memórias involuntárias.
vozes: Gherasim Luca, Son Corps Leger • roteiro e direção: Paula Gaitán • fotografia e câmera: Pedro Urano, Paula Gaitán • montagem: Joaquim Castro, Paula Gaitán • som e mixagem: Edson Secco • empresa produtora: Aruac Produções
Vida
Brasil, 2008, documentário, 66 min.

Vida é um filme sobre a atriz brasileira Maria Gladys. Vida é luz e sombra. Vida é uma celebração, uma homenagem à potência de estar viva, uma reflexão do que é ser uma atriz brasileira e a possibilidade de se doar com paixão e criatividade.
elenco: Maria Gladys, Maria Thereza Maron, Hugo • direção e roteiro: Paula Gaitán • produção e pesquisa: Pedro Tavares, Ana Sette • produção de locação: Paulo Amorim Moraes • assistência de direção: Fran Mattoso • direção de fotografia: Janice d’Avila • câmera adicional: Eryk Rocha, Paula Gaitán • som direto: Adriano Capuano • montagem: Daniel Paiva, Paula Gaitán • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora original: Edson Secco • trilha sonora: Felipe Flip, Ava Rocha, Art Blakey • finalização: Juca Diaz, Estúdios Mega • empresa produtora: Aruac Produções

Kogi
Brasil, 2009, documentário/ficção/experimental, 13 min.


Kogi é uma viagem imaginária à nação indígena Kogi, situada na Serra Nevada de Santa Marta na Colômbia. Para os Kogi, existe um grande espelho que divide dois mundos, o mundo das percepções, sensorial, do mundo abstrato dos significados, nomeado de Aluna.
roteiro, direção e direção de fotografia: Paula Gaitán • montagem: Eryk Rocha, Paula Gaitán, Ava Rocha, Daniel Paiva • design sonoro: Paula Gaitán
• edição de som: Edson Secco • trilha sonora: Ava Rocha
• empresa produtora: Aruac Filmes • coprodução: Paula Gaitán
Agreste
Brasil, 2010, documentário, 77 min.

O Agreste pode ser vários lugares, assim como Marcélia Cartaxo pode ser várias mulheres. A atriz é colocada frente à natureza e outras figuras femininas, duplos seus em alguma instância. Destes encontros surgem novas possibilidades de se operar no mundo da representação, que no filme é oriundo da mesma potência imaginária das brincadeiras de crianças em terrenos baldios.
elenco: Marcélia Cartaxo, Zabé da Loca, Sara Antunes, Maíra Senise • direção, roteiro: Paula Gaitán • assistência de direção: Jura William Capella • produção executiva: Ailton Franco Jr., Eryk Rocha • produção: Paula Gaitán, Jura Capella, Francisco dos Anjos Jr., Larissa Bery • assistência de produção: Alessandro Mota, Bianca Caetano, Luiz Carlos Mendes da Silva • direção de fotografia: Louise Botkay, Eryk Rocha, Paula Gaitán • fotografia adicional: Miguel Vassy, Vinicius Toledo • som direto: Phelipe Joannes Simões Costa • figurino: Maíra Senise • montagem: Daniel Santos, Joaquim Castro, Paula Gaitán • assistência de montagem: Anita Rocha da Silveira • desenho de som: Edson Secco, Joaquim Castro • edição de som e mixagem: Edson Secco • trilha sonora original: Zabé da Loca, Maciel Salu, Ava Rocha, Pupillo, Louise Botkay • finalização: Link Digital, Estúdios Mega • empresa produtora: Aruac Filmes, Franco Filmes, Pássaro Filmes

Exilados do vulcão
Brasil, 2013, ficção, 130 min.
Ela conseguiu salvar do incêndio uma pilha de fotografias e um diário com frases escritas à mão. Estas palavras e rostos são os únicos rastros deixados pelo homem que ela um dia conheceu e amou. Cruzando montanhas e estradas, ela tenta refazer os passos dele. Os lugares que ela visita carregam pessoas, gestos, lembranças e histórias que, pouco a pouco, se tornam parte de sua vida.
elenco: Clara Choveaux, Vincenzo Amato, Simone Spoladore, Bel Garcia, Lorena Lobato, Maíra Senise, Ava Rocha, Bruno Cezario, Daniel Passi, Romeu Almeida Ferreira • direção: Paula Gaitán • 1ª assistência de direção: Daniel Lentini • 2ª assistência de direção: Frederico Tariki • roteiro: Rodrigo de Oliveira, Paula Gaitán • direção de produção: Vitor Grazie • platô: Igor Pontini • assistência de produção: Eduardo Yep, Joelma Oliveira Gonzaga, Nathalia Melo • produção de locações: Henrique Frade, Pedro Marcos Oliveira, Leo Pyrata • direção de fotografia: Inti Briones • 1ª assistência de câmera: Cristian PetitLaurent • 2ª assistência de câmera: João Atala • loggagem: Rick Mello • chefe de elétrica: Washington Alves Urso • assistência de elétrica: Sílvio Godinho • chefe de maquinária: Paulo Sérgio Oliveira • fotografia still: João Atala • montagem: Paula Gaitán, Fábio Andrade • assistência de montagem: Marina Meliande, Joaquim Castro, Daniel Santos, Monique Rodrigues • direção de arte: Diogo Hayashi • assistência de


arte: Daniel Kaneko, Fidel Castro Alves • contrarregra: Evaldo Teixeira de Mendonça (Cigano), Tiago Santos (Ciganinho), Marco Andrade, Zebu • figurino: Maíra Senise • assistência de figurino: Aline Besouro, Gabriella Moura • camareira: Simone Andrade Gonçalves de Oliveira
• costureira: Maria José Gomes Pereira • maquiagem: Emi Sato • som
direto: Edson Secco • desenho de som: Fábio Andrade, Paula Gaitán
• edição de som: Fábio Andrade, Edson Secco • mixagem: CTAv –
Roberto Leite • trilha sonora original: Ava Rocha, Edson Secco, Fábio
Andrade, Carlos Issa, Muzzi Loffredo, Thomás Harres • produção de
finalização: Eryk Rocha • finalização: Labo Cine • produção executiva: Ailton Franco Jr., Eryk Rocha • empresa produtora: Franco Filmes, Aruac
Filmes, Mutuca Filmes

Memória da memória
Brasil, 2013, documentário/experimental, 26 min.


O filme é uma colagem – tanto de imagens quanto de materiais que vão do Super-8 ao digital – feita a partir do acervo da própria diretora, que possui um vasto material coletado desde a juventude. Uma espécie de “filme-anotações”, pequenas composições musicais, ensaios do cotidiano.
elenco: Ava Rocha, Catherine Faux, Eryk Rocha, Paula Gaitán, Viva
Auder • vozes off: Eryk Rocha, Maíra Senise, Paula Gaitán, Rodrigo Amim, Vinicius Quintella • roteiro, direção, fotografia e câmera: Paula
Gaitán • produção executiva: Paula Gaitán • fotografia adicional: Pedro Urano • montagem: Maiara Líbano • desenho sonoro: Paula Gaitán, Maiara Líbano • mixagem: Antônio Carlos Liliu • empresa produtora: Aruac Filmes
Noite
Brasil, 2014, ficção, 83 min.

“Porque a noite pertence aos amantes. Porque a noite pertence à luxúria. Porque a noite pertence aos amantes. Porque a noite pertence a nós.” (Patti Smith)
elenco: Clara Choveaux, Nash Laila, Cassius Augusto, Ava Rocha, Negro Leo, Andre Novais, Maíra Senise, Daniel Passi, Mell Brigida, Carolina Caju, Joana dos Santos, Bella, Daniel Fernandes • direção: Paula Gaitán • direção de fotografia, câmera e montagem: Paula Gaitán • produção: Bernardo de Oliveira, Duda Pereira, Paula Gaitán
• fotografia adicional: Inti Briones, Lucas Barbi, Ava Rocha • ilumina-

ção: Anderson Félix • assistência de montagem: Lucas Ferraço Nassif, Marina Carvalho, Daniel Santos • correção de cor: Antoine d’Artemare
• edição de som: Paula Gaitán • trilha musical: Dedo, Baile Primitivo, Thomas Rohrer, Cadu Tenorio, Negro Leo, Cassius Augusto, Savio Queiroz, Ava Rocha, Carlos Issa, Arto Lindsay, Gilmar Monte, Arrigo Barnabé • design gráfico: Lucas Pires • finalização: Azul Que Não Há •
masterização: Tomás Magariños
A chuva no meu jardim
Brasil/França 2015, documentário, 30 min.
O filme é resultado do encontro de Paula Gaitán com Agnès Varda em sua casa parisiense na célebre Rue Daguerre, para falar de resistência (à vulgaridade, à publicidade), da maneira como pensa seus filmes (a partir de estruturas, dispositivos) e do prazer em conceber instalações que libertem o espectador da situação clássica do cinema.


elenco: Agnès Varda • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Eryk Rocha • coordenação de produção: Joelma de Oliveira
Gonzaga • fotografia e câmera: Daniel Correia, Paula Gaitán, Eryk Rocha • som direto: Juruna Mallon • montagem: Daniel Santos, Paula Gaitán • empresa produtora: Aruac Filmes
Mulher do fim do mundo

Brasil, 2017, videoclipe, 5 min.

Música sobre o devir mulher no mundo contemporâneo, sua emancipação e lutas.
elenco: Elza Soares, Grace Passô, Mafalda Pequenino, Mariana Nunes, René Ferrer, Daniel Passi • direção e montagem: Paula Gaitán • produção executiva: Eryk Rocha • direção de produção: Fernanda Hiraga, Juliano Almeida • assistência de produção: Jéssica Silva • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Lina Kaplan • direção de arte: Diogo Hayashi • figurino: Maíra Senise • direção musical: Guilherme Kastrup • trilha sonora: Alice Coutinho, Rômulo Fróes • assistência de montagem: Sofia Tomic • assistência de arte: Giulia Puntel • adereços: Victor Hugo Mattos
Sutis interferências
Brasil, 2017, documentário, 80 min.
Estudos sobre o som a partir da obra do músico Arto Lindsay e a relação do corpo/câmera com a música. O filme discute a arte de forma tão lírica quanto o próprio trabalho do artista.
roteiro, direção, fotografia, câmera, montagem e design sonoro: Paula Gaitán • produção: Bernardo Oliveira, Paula Gaitán • fotografia
adicional: Daniel Venosa, Fred Siewerdt, Calí dos Anjos, João Arthur • correção de cor e masterização: Tomás Magariños/Azul Que Não Há •
elenco: Arto Lindsay, Paal Nilsen Love


Espaços invisíveis
Brasil, 2018, documentário/experimental, 36 min.

Dois ensaios que fazem parte da série Espaços invisíveis, sobre música eletrônica: DEDO, coletivo multimídia carioca formado por Arthur Lacerda, Lucas Pires e Rafael Meliga; e Ceticências, projeto sonoro de Cadu Tenório, artista atuante na cena eletrônica e experimental carioca ao lado do músico e pesquisador Sávio de Queiroz.
argumento e direção: Paula Gaitán • roteiro: Paula Gaitán, Carlos Issa • direção de fotografia: Lucas Barbi montagem: Carlos Issa • finalização e cor: Brunno Schiavon

É rocha e rio, Negro Leo
Brasil, 2020, documentário, 157 min.
O filme é uma conversa com o músico, poeta, sociólogo e pensador Negro Leo. Ele articula suas ideias sobre o desenvolvimento da música, a política brasileira e internacional, a ascensão das religiões neopentecostais e a obsessão pelas redes sociais, fazendo um paralelo com sua própria vida.


elenco: Negro Leo, Ava Rocha, Uma Rocha • roteiro, direção e montagem: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Paula Gaitán, Vitor Graize, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Anna Júlia Santos • som direto: Rubén Valdés • direção de arte: Diogo Hayashi • figurino: Negro Leo, Ava Rocha • motorista: Cláudio Dias
• assistência de montagem: Ariela Calanca • edição de som e mixagem: Gustavo Vellutini • trilha sonora: Negro Leo, Ava Rocha • correção de cor: Alice Andrade Drummond • masterização: Matheus Rufino
• projeto gráfico: Thiago Lacaz • transcrição: Ana Resende • tradução: Christopher Mack • empresa produtora: Aruac Filmes
Luz nos trópicos
Brasil, 2020, ficção, 255 min.
Em Luz nos trópicos, a cineasta Paula Gaitán tece uma densa estrutura de histórias e linhas do tempo, enredada por cosmogonias indígenas, cadernos de viagem e literatura antropológica. O filme é um tributo à abundante vegetação das Américas e às populações nativas do continente. Um filme de navegação livre como um rio sinuoso.

elenco: Carloto Cotta, Clara Choveaux, Begê Muniz, Kanu Kuikuro, Maíra Senise, Arrigo Barnabé, Vincenzo Amato, Daniel Passi, Erik Martincues, Nilton Amazonas, John Scott-Richardson, Jack Manley, Vitor Aurape Peruare, Carolina Virgüez, Paulo Nazareth • direção, roteiro e montagem: Paula Gaitán • assistente de direção: Manuel Moruzzi, Rodrigo Fischer • produção executiva: Vitor Graize • produ-

ção: Vitor Graize, Eryk Rocha, Paula Gaitán • direção de produção: Violeta Rodrigues • assistência de produção: Peter Azen, Domingas Ribeiro, Manoel Vieira • direção de fotografia: Pedro Urano • direção
de arte: Diogo Hayashi • figurino: Maíra Senise, Aline Besouro • som direto: Marcos Lopes da Silva • maquiagem: Leon Gurfein • desenho de som: Marcos Lopes, Tiago Bello, Paula Gaitán • mixagem: Tiago Bello •
correção de cor: Alexandre Cristófaro • finalização: Brunno Schiavon • empresa produtora: Aruac Filmes • coprodução: Pique-Bandeira Filmes
• Produtora Associada: FM Produções
Ópera dos cachorros
Brasil, 2020, Experimental, 16 min.

Percurso da autora Paula Gaitán pelas ruas de São Paulo, gravando suas canções e invenções sonoras enquanto caminha.
vozes e cantos: Paula Gaitán • participação especial: Maíra Senise • direção, montagem e design sonoro: Paula Gaitán • design gráfico: Thiago
Lacaz • finalização: Brunno Schiavon • masterização: Eduardo Manso
Let's Dance
Brasil, 2021, documentário, 27 min.

Trata-se de um ensaio breve sobre o pensamento de Jean-Claude Bernardet, importante teórico de cinema, crítico cinematográfico, cineasta, escritor e ator.
elenco: Jean-Claude Bernardet • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • produção de set: Mariana Cypriano • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Anna Júlia Santos • direção de arte: Diogo Hayashi • motorista: Cris Batista • montagem: Cristina Amaral • assistência de montagem: Bruna Carvalho Almeida • som direto: Carolina Barranco, Rubén Valdés • edição de som e mixagem: Rubén Valdés • assistente de edição: Ariela Calanca • correção de cor: Lucas Barbi • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz • empresa produtora: Aruac Filmes

Ostinato
Brasil, 2021, documentário, 56 min.

O processo criativo do compositor e músico Arrigo Barnabé.

elenco: Arrigo Barnabé & Percorso Ensemble • roteiro e direção: Paula Gaitán • produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de câmera: Elisa Ratts • som direto: Carolina Barranco, Rubén Valdés • direção de arte: Diogo Hayashi
• motorista: Osvaldo dos Anjos, Valdir Luz • montagem: Tomás Von der Osten, Paula Gaitán • assistência de montagem: Guilherme Leandro • correção de cor: Lucas Barbi • edição de som e mixagem: Ruben Valdés • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz
Promessas e previsões
Brasil, 2021, videoclipe, 4 min.
Videoclipe realizado pela cineasta em película super-8, na cidade de Nova York, para a música Promessas e Previsões, de Chico França, gravada por Ana Frango Elétrico.


elenco: Maíra Senise • fotografia, montagem e direção: Paula Gaitán
• produção musical: Ana Frango Elétrico, Martin Scian • composição: Chico França • guitarra e violão: Ana Frango Elétrico • bateria e trombone: Antônio Neves • rhodes: Martin Scian • baixo: Guilherme Lirio • synth: Alberto Continentino • percussão: Marcelo Costa • colorista: Bruno Schiavon • mixagem e masterização: Martin Scian • finalização: Estúdio Arco • assistente de finalização: Isabel Beitler • créditos: Thiago Lacaz
Sônia Guajajara
Brasil, 2021, documentário, 27 min
Sônia Guajajara é do povo guajajara/tenetehara, que habita nas matas da Terra Indígena Araribóia, no Maranhão, e é uma líder indígena brasileira e política filiada ao Partido Socialismo e Liberdade. O documentário faz parte da série “Os Resistentes”, sobre homens e mulheres que marcaram e marcam a história da humanidade, tanto pelas suas obras ou atuações artísticas quanto pelo gênio das suas personalidades. Inquietos, eles irradiam uma força transbordante de vida inteligente e sensível.


elenco: Sônia Guajajara • direção, roteiro e montagem: Paula Gaitán
• produção executiva: Vitor Graize • produção: Vitor Graize, Paula Gaitán, Eryk Rocha • direção de produção: Matheus Rufino • direção de fotografia: Lucas Barbi • assistência de fotografia: Elisa Ratts • direção de arte: Diogo Hayashi • som direto: Carolina Barranco • motorista: Valdir Luz • montagem: Ava Rocha • assistência de montagem: Guilherme Leandro • correção de cor: Lucas Barbi • edição de som e mixagem: Rubén Valdés • finalização: Matheus Rufino • projeto gráfico: Thiago Lacaz • empresa produtora: Aruac Filmes
Steps
Brasil, 2021, documentário/experimental, 17 min.
Paula Gaitán teve as primeiras experiências em sua trajetória como diretora de cinema na cidade de Sintra (Portugal) em 1981. Trabalhando com a película Super-8, a diretora conta que buscou uma visão impressionista do real, com grande ênfase na relação da luz com as paisagens e os objetos, que se incluem no universo do registro doméstico tanto quanto as pessoas filmadas. Ao longo de todo o filme, há especial destaque para as árvores, os animais, a arquitetura, as paisagens rural e urbana, ainda que transeuntes e sua família também estejam presentes.

direção, fotografia, câmera, montagem e produção: Paula Gaitán • design sonoro: Paula Gaitán, L. Borgia Rossetti • trilha sonora original e mixagem: L. Borgia Rossetti • design visual: Thiago Lacaz • correção de cor e finalização: Brunno Schiavon

Se hace camino al andar
Brasil, 2022, ficção, 35 min


A jornada de um homem através do tempo e do espaço infinito. As estradas surgem ao caminhar.
elenco: Paulo Nazaré • roteiro e direção: Paula Gaitán • assistentes de direção: Rodrigo Fischer, Manuel Moruzzi • produção executiva: Vitor Graize, Eryk Rocha, Paula Gaitán • produção: Violeta Rodrigues • direção de fotografia: Pedro Urano • som direto: Marcos Lopes da Silva • diretor de arte: Diogo Hayashi • figurino: Aline Besouro • montagem: Paula Gaitán • música: Ava Rocha • desenho de som: Paula Gaitán • edição de som: Paula Gaitán, Rubén Valdés • mixagem: Rubén Valdés • design visual: Thiago Lacaz • correção de cor e finalização: Brunno Schiavon
O canto das amapolas

Brasil/Alemanha, 2023, documentário/ficção, 104 min.
A visualidade sonora da voz materna. Evocando paisagens históricas e afetivas.
elenco: Dina Moscovici, Luise Busse,Bettina Korintenberg, Maíra Senise, Cecilia Gil Mariño, Marck Arsonge • direção, roteiro e montagem: Paula
Gaitán • fotografia: Rodrigo Levy, Paula Gaitán • som direto: Juliana
Perdigão • trilha original: Maíra Senise • produção: Margarida Serrano

• design sonoro: Rubén Valdes, Paula Gaitán • mixagem: Rubén Valdes
• finalização e cor: Brunno Schiavon • assistente de finalização: Isabel
Beitler • design visual: Thiago Lacaz • tradução: Francisco Vidal, Brunno Schiavon, Luis Fernando Quiroz Jimenez • produção: Paula Gaitán • apoio: Daad Artists (Alemanha)

 Uaka (1988)
Uaka (1988)
Programação
8 jun, quinta
15h30 Se hace camino al andar 35 min
Monsanto 21 min
Kogi 13 min
18h A chuva no meu jardim 30 min
Agreste 77 min
19h abertura
20h30 Mulher do fim do mundo 5 min
Noite 83 min
apresentação da sessão por Ana Júlia Silvino, Ava Rocha, Kiko Dinucci, Negro Leo e Paula Gaitán
9 jun, sexta
15h30 Steps 17 min
Azul 16 min
Espaços invisíveis 36 min
18h Memória da memória 26 min
Vida 66 min
20h Ópera dos cachorros 16 min
Sutis interferências 80 min
10 jun, sábado
15h
Luz nos trópicos 255 min
20h Uaka 77 min
após a sessão, debate com Ana Júlia Silvino, Cristina Amaral, Paulo Santos Lima e Paula Gaitán
11 jun, domingo
17h30 O canto das amapolas 104 min
19h30 É rocha e rio, Negro Leo 157 min
apresentação da sessão por Negro Leo
12 jun, segunda
14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 1
18h LygiaPape 42 min
19h30 Sônia Guajajara 27 min
Let’s Dance 27 min
após a sessão, debate com Jean-Claude Bernardet, Mariana Queen Nwabasili e Paula Gaitán
13 jun, terça
14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 2
18h Promessas e previsões 4 min
Ostinato 56 min
apresentação da sessão por Arrigo Barnabé
20h Exilados do vulcão 130 min
após a sessão, debate com Caetano Gotardo, Fábio Andrade e Paula Gaitán
14 jun, quarta
14h30 Encontros: masterclass com Paula Gaitán, parte 3
17h Diário de Sintra 90 min
após a sessão, debate com Ana Júlia Silvino, Ava Rocha, Eryk Rocha, Mateus Araújo e Paula Gaitán
Filmografia completa

1983 Olho d’água Brasil/Portugal, média-metragem
1988 Uaka Brasil, longa-metragem
1991 LygiaPape Brasil, média-metragem
1994 Arquitetura de uma viagem Colômbia, curta-metragem
Designer Colômbia, média-metragem
1995 Presença ausência Colômbia, curta-metragem
O anjo de Galileia Colômbia, média-metragem
1996 Vôo de condor Colômbia, curta-metragem
Palavra Mulher Marta Traba Colômbia, curta-metragem
Luna Colômbia, curta-metragem
Quarteto Colômbia, curta-metragem
1997 Amor, Beleza, Sexo, Erotismo Colômbia, série
Planeta Parabólico Colômbia, série
1998 Azul Colômbia, curta-metragem
Profeta de Imagens Colômbia, curta-metragem
Cartografias Colômbia, curta-metragem
Estética da Comida Colômbia, curta-metragem
Cerimônia do Chá Colômbia, curta-metragem
Express Colômbia, curta-metragem
1999 Representações paralelas Colômbia, série
Guerra e Paz Colômbia, curta-metragem
2004 Pela água Brasil, vídeo-instalação
2006 Cinema e Pensamento Brasil, série


2007 Pelo Rio Brasil, curta-metragem
Diário de Sintra Brasil/Portugal, longa-metragem
2008 Monsanto Brasil, curta-metragem
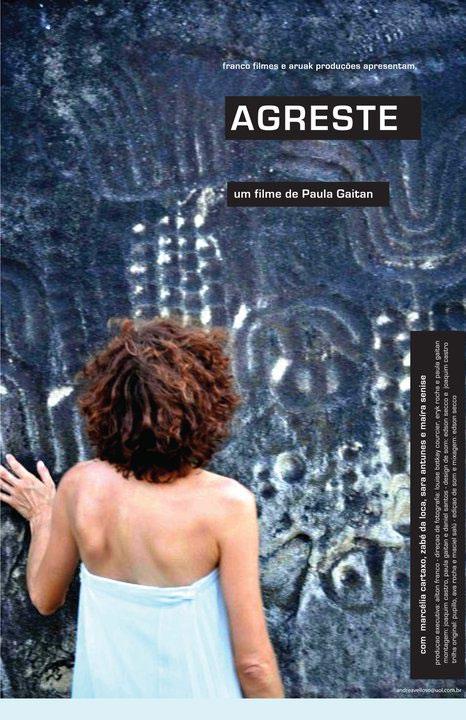
Vida Brasil, longa-metragem
2009 Kogi Brasil, curta-metragem
2010 Agreste Brasil, longa-metragem
2013 Exilados do vulcão Brasil, longa-metragem

Memória da memória Brasil, curta-metragem
2014 Noite Brasil, longa-metragem
2015 A chuva no meu jardim Brasil/França, curta-metragem
2017 Mulher do fim do mundo Brasil, videoclipe
Sutis interferências Brasil, longa-metragem
2018 Espaços invisíveis Brasil, média-metragem
2019 Os Resistentes – 1ª temporada Brasil, série
2020 É rocha e rio, Negro Leo Brasil, longa-metragem
Luz nos trópicos Brasil, longa-metragem
Ópera dos cachorros Brasil, curta-metragem
Os Resistentes – 2ª temporada Brasil, série
2021 Ostinato Brasil, média-metragem
Promessas e previsões Brasil, videoclipe
Let’s Dance Brasil, curta-metragem
Steps Brasil, curta-metragem
2022 Se hace camino al andar Brasil, média-metragem
2023 O canto das amapolas Brasil, longa-metragem
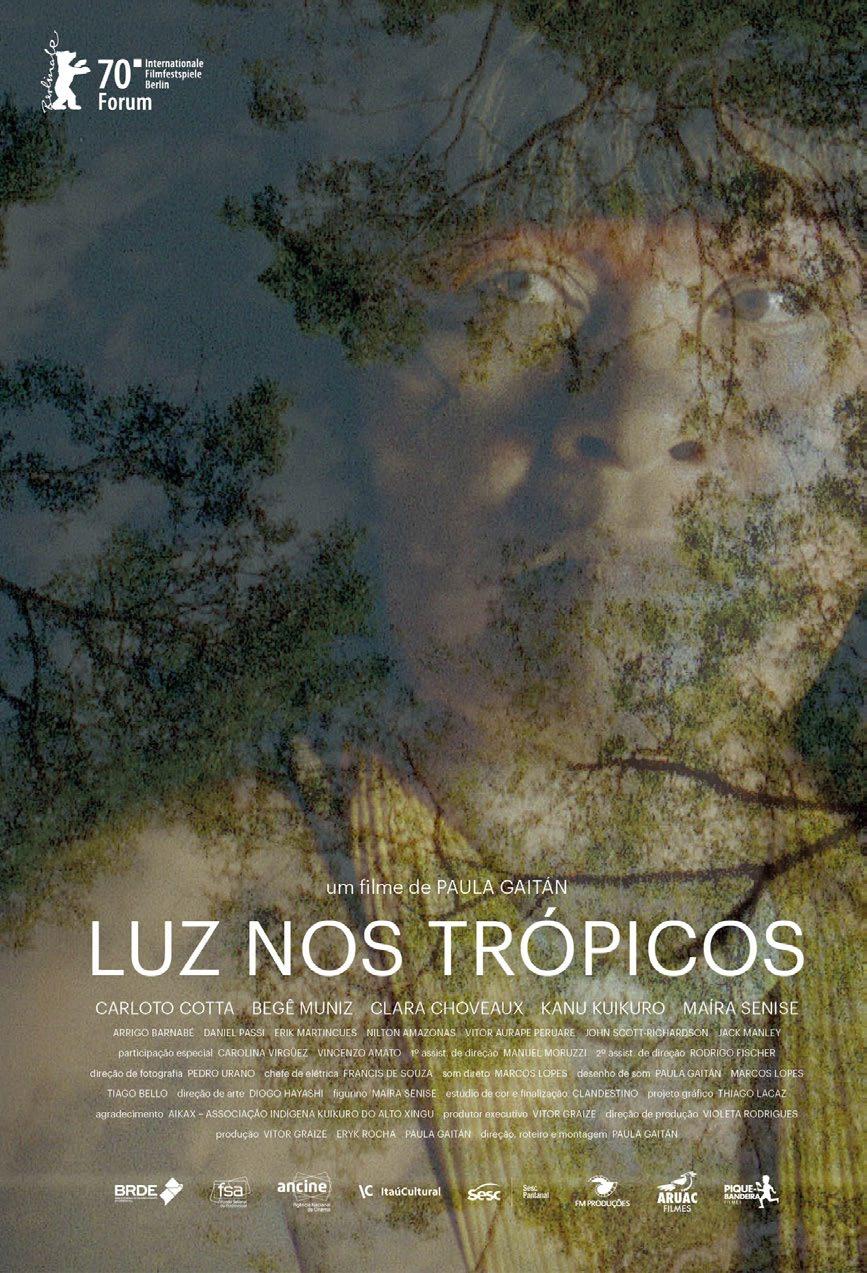







 Memória da memória (2013)
Memória da memória (2013)
A patologia de cada imagem: o trabalho de Paula Gaitán
Francis Vogner dos ReisO termo “patologia artística” saiu do radar do repertório crítico e da realização, talvez porque o termo ‘patologia’ tenha ficado demasiadamente ligado ao imperativo negativo da doença – algo que se recusa, que não se quer, que causa sofrimento, aquilo sobre o qual se demanda uma ‘cura’. Mas no trabalho de criação, patologia tem a ver com os afetos no sistema complexo de uma obra e nele a sua singularidade anatômica e fisiológica. Paula Gaitán fala, recordando Júlio Bressane, que cada imagem é como um corpo que tem uma lógica anatômica própria, às vezes desviante, um funcionamento próprio e fora da norma, cada imagem tem uma anatomia, e por isso, uma patologia. Pathos (doença) e logos (ciência, estudo).
O termo é rico por estimular uma discussão acerca do trabalho artístico, por considerar uma lógica de criação que não é anterior e ideal, mas que depende das imagens, do corpo singular das imagens e dos sons em que aquilo que pode ser considerado erro, acidente (do acaso, do seu processo fotoquímico ou digital) pode ter um diagnóstico específico. Paula não fala das imagens, dos filmes como corpos vivos, pois as imagens teriam vida própria, são consequência não só de sua excelência prevista originalmente, mas de suas falhas, de seus desvios.

Em uma época em que na discussão sobre o cinema vemos uma certa abstração dos conceitos concorrendo (e rejeitando) com a materialidade das obras, ver uma artista falar do seu trabalho com minúcia e inteligência conceitual e prática não é só deslumbrante por ser pródiga em inteligência, mas é vital. A arte é um ofício em que os sentidos, os porquês, muitas vezes não estão elucidados de saída. É uma busca, não um mero exercício de princípios abstratos. O trabalho do artista é a sua imaginação se sedimentando no mundo e, reciprocamente, as tramas do mundo encontrando uma expressão estética (que não está inscrita na natureza e a olho nu. Ou seja: um olhar e uma intervenção). Nesse trabalho a dicotomia cinema versus mundo não se coloca, pois a arte é um produto do mundo, existe nele, o reflete e a ele se volta. A quem interessa essa separação? O cinema só terá uma importância política quando essa dicotomia for superada. O cinema de Paula Gaitán se fez e se faz nesse caminho. A entrevista com ela segue na íntegra.
Francis: Paula, vamos desde o começo: você é colombiana e, ainda que tenha nascido em Paris, é brasileira, porque vive aqui há muito tempo. Filha do poeta colombiano Jorge Gaitán Durán e da Dina Moscovici, que era dramaturga, diretora de teatro e também cineasta. Em que medida, nessa sua origem transnacional, seus pais te influenciaram? Como foi a origem, não só do seu gosto pela arte, mas também da sua prática artística?
Paula: Ah, eu falo que sou colombiana e brasileira, mas eu nunca falo que sou francesa porque nunca me senti francesa, mesmo tendo nascido lá em Paris, num dia de inverno, no meio de uma nevasca. Eu sou de 1952, mas a Mostra de São Paulo botou uma vez 1954 e foi ficando. Eu nasci quando morreu o Paul Éluard, e por isso que eu me chamo Paula, porque meu pai era poeta, era
apaixonado pelo Paul Éluard. Tenho um livro aqui, que era do meu pai, tem a dedicatória do Paul Éluard e do Picasso. Não quer dizer que o meu pai fosse um desses milionários colecionadores de coisas, ele era um homem, um poeta, que foi chamado de “o poeta da morte e do erotismo”. Ele foi para Paris, e ser poeta, escritor, exclusivamente, era uma coisa muito difícil na década de 1950. Não era das famílias oligárquicas da capital, das famílias quatrocentonas privilegiadas, mas era de uma família do interior da Colômbia, do lugar “mais longínquo do planeta”, que se chama Cúcuta, que é na fronteira com a Venezuela. Ele tinha uma cultura do interior da Colômbia, não era da capital, o que significava muito nesse momento. Ele morreu prematuramente num acidente de avião voltando de Paris em Pointe-à-Pitre. Mas nessa época dele em Paris seu encontro com minha mãe, que era judia, filha de uma família de imigrantes judeus, foi fundamental. Meu avô materno Emilio Moscovici era anatomista e minha avó Rosa Podval professora de russo e outros idiomas, talvez por isso meu fascínio pela sonoridade e a utilização em vários filmes de multiplicidade de idiomas e até de alguns inexistentes e inventados. Eles vieram da Tchecoslováquia para o Rio de Janeiro na Primeira Guerra Mundial. Minha mãe nasceu no Brasil e, curiosamente, a irmã da minha mãe e minha mãe foram também para Paris, com bolsa, e lá conheceram seus futuros maridos, dois colombianos. O fato de estarem em Paris não quer dizer que eram de famílias abastadas ou famílias que iam, como eu vejo aqui os paulistas, para seus castelos parisienses. Eles sempre foram artistas bastante radicais, tanto um quanto o outro, ou seja, eles romperam com as próprias tradições dos seus ambientes familiares, minha mãe estudou cinema no IDHEC, foi uma das primeiras gerações, acho que foi da mesma geração do Ruy Guerra. E meu pai escrevia livros de poesia, mas o que fez dele uma pessoa importante no âmbito latino-americano foi a criação de uma revista, que junto a Revista Sur, do Borges, na Argentina, aglutinou todo o “boom” da literatura latino-americana. Foi lá que o Cortázar começou a
publicar as primeiras coisas, meu pai era muito amigo do Octavio Paz, que era de uma geração acima. E daí meu pai, Jorge Gaitán Durán, fez um trabalho editorial brilhante nessa revista.
Francis: Qual revista?
Paula: Revista Mito, que lembra o trabalho editorial que o Mário Faustino fez no Brasil, criando um pensamento crítico a partir da literatura latino-americana e mundial. Aliás, eles têm histórias um pouco parecidas, os dois morreram em acidentes de avião, não é? O Mário Faustino dirigiu um suplemento literário (Seção Poesia-Experiência no Suplemento Dominical) no Jornal do Brasil. Eu queria fazer um filme sobre isso, porque me lembro que o Glauber falava para mim: “Paula, você tem que fazer algo sobre o Mário Faustino, porque tem uma conexão grande com teu pai”. Eles eram intelectuais, o que se chamava de intelectual na época, eram pessoas conectadas com a história dos seus povos, países, a história política, meu pai tem um livro que estive estudando recentemente sobre a violência na Colômbia. Ou seja, são pessoas que escreveram ensaios, romance… Romance de fato ele não fez, fez uma ópera, “Los Hampones”, outro livro sobre Marquês de Sade, que se chama “Le libertin et la revolution”… Tinha uma personalidade forte e marca uma ruptura na literatura colombiana, até hoje ocupa um lugar muito especial. Ele e minha mãe ficaram um tempo casados, e depois se separaram, então eu fiquei mais com minha mãe. Mas é isso, são pessoas que não vêm da elite, nem da elite econômica nem nada, são pessoas que tiveram posições políticas, estéticas avançadas para época. A minha mãe era feminista naquela época. Então eu acho que isso marcou em mim uma certa coerência política desde muito jovem. Eu não tinha pautas moralistas e religiosas tradicionais que tinha que cumprir em casa, sempre fui muito livre pra decidir. Tanto que quando era pequena fui num colégio onde era obrigatório assistir a aula de religião e eu disse que não ficaria na aula e afirmei
“yo soy atea”. Minha casa era uma casa muito parecida às casas em que eu moro atualmente, não tinha muitos móveis, mas tinha quadros e livros. Não tinha objetos burgueses. Tanto que quando ia na casa das minhas amigas eu queria um sofá, porque minha casa era muito informal, era uma casa com quadros, livros, uma cama qualquer, mas uma boa cama talvez, mas era muito parecido como eu moro. É um gosto particular. E um gosto também pela visão, pelo olhar, pela ideia de consultar livros desde muito jovem. Tenho livros de arte que tenho desde muito jovem, olhava atentamente pinturas, antes mesmo de estudar artes visuais. E não se trata de uma cultura de fazer de você uma pessoa culta socialmente, mas se trata de quase um estar no mundo desse jeito. Não é uma coisa assim “ah, vou botar você para estudar a história da arte. Vou botar você para estudar francês, balé.”
Francis: Sim, na contramão da convenção. Mas em que época você se reconhece como artista?
Paula: Sempre. Eu sempre pintei, e eu sempre escrevi. Tanto que eu tenho poemas publicados. Eu estou em várias antologias de poesia latino-americana. É porque desse lado eu não falo…
Francis: Eu não sabia.
Paula: Nunca cheguei a publicar um livro porque coincidiu com minha vinda para o Brasil, e meu desejo de publicar meu primeiro livro de poemas, que era um livro objeto, nunca conseguiu se materializar. Livro de poemas e fotografias realizadas por mim. E terminou que entrei no cinema, e quando você entra no cinema, só dá para isso, é tão louco, exige dedicação total, que vai abranger todas as outras artes. Engraçado, que eu não sou muito de escrever e-mails, a prosa não é minha onda, mas até já escrevi textos em prosa. Mas a questão do idioma era complicada, porque eu escrevia em espanhol. Se você botar “Paula Gaitán
poemas, poetas”, eu estou em algumas antologias de poesia colombiana, com quinze anos de idade, vinte, vinte e quatro…
Francis: É uma novidade para mim.
Paula: É, mas isso também é algo que eu mesma também não falo muito. Mas já que você me perguntou…
Francis: É porque nos anos 1970 você estuda arte em Bogotá, faz fotos. O que você tem de produção artística desse momento dos estudos?
Paula: Tenho muita coisa. Muitas fotos. Quando o Glauber me conheceu eu já era fotógrafa. As pessoas acham que eu encontrei com o Glauber Rocha e foi paixão, bem, óbvio que foi, mas foi também admiração, tanto dele por mim como eu por ele. Quando eu conheci o Glauber, eu estava em Bogotá e era militante da célula universitária do Movimento Obreiro Independente e Revolucionario, eu já era uma pessoa conhecida, muito jovem, assim, com 23 anos. Não é que ele encontrou uma menina fofa. Não. Eu era uma pessoa que já tinha uma história e estava estudando filosofia e artes visuais e, como eu te disse, eu não tinha experiência em cinema, mas tinha muita experiência já com imagem.
Francis: Mas nesse momento você produzia mais fotos, pintura ou gravura?
Paula: Era fotografia… Eu posso te mandar muita coisa, era desenho, era gravura, era fotografia, era tudo visual. E a escrita um pouco dentro dessa ideia como se fosse objeto, como se o poema fosse um poema objeto. Tem essa tradição no Brasil, do Pignatari, do próprio Arnaldo Antunes.
Francis: Poesia concreta.
Paula: É, poesia concreta. Eu já fazia essas coisas sendo muito jovem. Tenho vários projetos assim, para mim não é nenhuma novidade, aquilo era o que eu fazia.
Francis: Mas você começa a trabalhar com cinema lá mesmo na Colômbia? Você faz alguma coisa em direção de arte, algo com imagem em movimento?
Paula: Muito pouco. Naquela época eu fazia instalações, videoinstalações, trabalhava com imagem em movimento, mas sempre…
Francis: Então você já trabalhava com vídeo nos anos 1970?
Paula: Sim, algumas coisas eu cheguei a fazer. Tanto que o primeiro filme meu, que, aliás, a Ava fala que é o mais lindo, é o Olho d’água. Aquilo que eu fiz no Diário de Sintra, eu já fazia no Olho d’água.
Francis: De que ano que é o Olho d’água?
Paula: Efetivamente eu fui começar a fazer o vídeo em 82. Esse é um material que fiz com fotos, que comecei a fazer quando o Glauber estava vivo, não me lembro, acho que eu fui fazendo aos pouquinhos, sabe? Eu falo muito do Glauber porque foi com ele que começou outro período da minha vida aqui no Brasil, e esse período foi frutífero, justamente pelo olhar que ele depositou no meu trabalho, porque eu poderia ser apenas a namorada, ou fazer outras coisas também, mas ele começou a me chamar para trabalhar com ele. O livro O nascimento dos deuses, que foi agora publicado, tem desenhos meus e dele.
Francis: A primeira parceria de vocês foi em A idade da terra?
Paula: Não, antes eu fiz o cartaz do filme Cabeças Cortadas, que Glauber tinha filmado na Espanha, e a capa do livro Riverão
Sussuarana
Francis: É verdade, o Riverão Sussuarana é anterior.
Paula: Eu já era uma pessoa, tenho a impressão, muito parecida ao que eu sou agora, que trabalhava a partir de uma ideia que desejava desenvolver, somada a muita intuição, com a capacidade de fazer associação de imagens, muito rápido, e vinha desse trânsito da passagem de um dispositivo a outro, do desenho para a fotografia, da imagem estática para o movimento, da fotogravura… Eu não mudei muito, Francis.
Francis: O trabalho da direção de arte em A idade da terra é muito expressivo, é uma colaboração muito evidente porque é o trabalho do Glauber que tem mais força pictórica. Acho que essa força expressiva do seu trabalho é coisa de artista visual, de pintor, um trabalho plástico com as cores e texturas, eu acho que isso está em A idade da terra, que é o filme do Glauber em que isso é mais forte. Como foi essa parceria no A idade da terra?
Paula: Ele me deu o roteiro, que, aliás, é um roteiro onde tinha personagens que não eram exatamente os mesmos que a gente vê no filme, mas tinha elementos visualmente muito potentes. E aí me lembro que estava grávida do Eryk e fomos fazer a pré numa produtora que ficava na Urca, me instalaram numa sala e eu fiz todo o levantamento visual do filme. Esse material se perdeu, deve ter ficado na produtora da Urca, da Tizuka Yamasaki. Então fiz o storyboard e desenhei personagem por personagem. Quando comprei os tecidos, pesquisei a questão cromática dos tecidos, dos adereços, e muitas das coisas, por exemplo, que o Antônio Pitanga usa no filme. Uma lembrança muito bonita, do personagem do (Carlos) Petrovich, do diabo, vestido com chapéu
mexicano e uma singular maquiagem colorida, foi o fato de eu ter pintado a mão, suas roupas e seu rosto, quer dizer, era uma coisa que tinha um certo artesanato no dia a dia, os materiais estavam lá e eu ia me inspirando como se estivesse fazendo um quadro. Que é um pouco como trabalho até hoje. Na realidade, eu trabalho muito parecido, até hoje. Os figurinos dos meus filmes estão sempre disponíveis, se deslocam junto aos atores a todas as locações. Levamos sempre todos os figurinos. A Maíra Senise e a Aline Besouro, que trabalham comigo, sabem que nos filmes de ficção eu trabalho com uma gama de possibilidades imensa e, dependendo da luz específica desse dia de filmagem, e da locação, pode ser repensado o figurino do personagem, entendeu? Existem umas cores já pré-determinadas na pesquisa, é assim um pouco como pintura, existem cores que prevalecem, planos de cor, você trabalha esses planos de cor, eu não vejo figurino como roupa que metodicamente corresponde a um período histórico, a uma época específica, eu trabalho arquétipos e cores, como se fossem planos de cor. Ou seja, se um figurinista vai trabalhar comigo falando “ah, isso está incorreto, a roupa de época tem babado assim, botão assim”, está fora, não tem papo. Então é uma visão muito diferente até do que eu faço. Eu trabalho lógicas diferentes até hoje: espaciais, de cor, de textura, de movimento, de fluidez, de estranhamento, experimentar justaposições e contrastes, e bastante rigor na escolha do que realmente é indispensável. E não aquele figurino naturalista. Então isso permeia também o A idade da terra, onde eu já cheguei com um conceito a partir da leitura do roteiro e, por exemplo, me inspirei numa foto do livro da Leni Riefenstahl, que ela fez na África, para fazer o capacete de búzios que Pitanga usa no filme. Coisas assim, eu vou juntando. Na realidade, meu trabalho é de colagem, de associação, de sensibilidade, de entender essas formas através de uma pesquisa muito ampla. Então nada é aleatório, e tudo é uma criação que se dá depois de pesquisas prolongadas. Assim foi também no A idade da terra. Estou te contando o caso do capacete, que é esse
capacete que foi feito de búzios, da roupa do Pitanga com esses tecidos vermelho e branco, e a estampa de zebra, e o fato de ser uma espécie também de parangolé. Isso tudo sai um pouco dessa ideia associativa de planos de cor, de objetos, entre arquitetura, escultura… O que é interessante é que o Glauber também sabia exatamente o que ele queria, então eu experimentava e na hora ele tirava algum detalhe ou acrescentava algo… Mas o Glauber era a pessoa mais generosa que eu vi na minha vida trabalhando e que oferecia a maior liberdade para a equipe.
Francis: E o que que ele te influenciou no trabalho? O que você acha que dessa parceria de trabalho com ele você incorporou ao teu trabalho? Algum procedimento, alguma relação com a criação, o que seria?
Paula: Acho que a velocidade da resolução dos problemas. Ou seja, de que não dá para trabalhar em tal locação, você transforma a dificuldade em potência, você transforma um pouco essa coisa entre você reinventar o processo todos os dias e você partir para uma nova descoberta. Mas também esse ritmo de velocidade no processo criativo é muito uma coisa que eu peguei do Glauber, porque a gente deitava e no dia seguinte ele mudava alguma coisa na ordem do dia, por exemplo, na sequência do Pelourinho com as freiras, que chega a polícia, como você incorpora isso, esse imprevisto? É um pouco a ideia de você incorporar o acaso dentro da estética, e como você também incorpora o acaso e também a velocidade como isso se dá, inclusive na mise-en-scène, como você cria esse teatro em palco aberto. Essa dinâmica entre os atores e os diálogos também, eu aprendi isso com ele, que os diálogos quase que acontecem meia hora antes. Isso não quer dizer que eu chegue como uma porra louca e invento, não. Eu chego na filmagem com um material vivido de experiência de pesquisa e de mapeamento muito grande de textos, de imagens. Quando termina um filme meu, as equipes ficam com um material
visual vasto. O trabalho que eu tenho com as equipes é muito profundo, com a equipe de arte… Quase que a equipe de arte comandada pelo Diogo Hayashi é a primeira que trabalha comigo, é ela que vai encontrar as locações junto comigo. Para mim, locação tem vida. Não dá para fazer a arte depois do roteiro, fazer o storyboard e você imitar. É o contrário, você vai à procura dos espaços, todo o processo é invertido. Primeiro vem a locação e eu tenho uma vaga ideia de uma ação. Mas essa ação se completa quando eu encontro a locação e a partir disso nasce uma sequência. Quase que a sequência pode nascer, porque me interessa esse espaço, esse espaço simbólico, esse espaço histórico, o que for. Assim, eu não acho que eu seja uma boa aprendiz, porque o Glauber tem outro tipo de cinema, ele é um grande dramaturgo e traz uma questão política bem mais forte que a minha. O político comigo veio de outro jeito.
Francis: Como você acha que entra o político no seu trabalho?
Paula: Eu acho que ele vem pelo radicalismo formal às vezes e pela maneira associativa. Sei lá, eu não sei, porque eu não sei falar muito do meu trabalho, mas é mais por aí, pela maneira como eu exerço essa liberdade. Acho que é mais, talvez, o que eu aprendi também do Glauber, é você não ter limite de se expor e não ter medo dos erros e de se arriscar. Essa coragem, basicamente, é fundamental, me guiou, a coragem dele, em todos os aspectos, me guiou. Eu acho que é uma coragem que me inspira, e muito maior que a minha, porque ele viveu coisas bem diferentes das minhas e provavelmente muito mais radicais, não é? Mas, digamos que é uma pessoa que me marcou profundamente, me marcou por isso, marcou a partir de vários lugares. Mas é isso, sinto que também que ele encontrou em mim um terreno vazio, onde ele pode plantar, uma página sem muitas referências cinematográficas também, porque eu não era uma cinéfila. Ele encontrou uma artista um pouco ingênua, talentosa e muito
curiosa, e eu acho que essa maneira minha, porosa, de receber as coisas, também facilitou muito. De eu não ter uma formação assim acadêmica de cinema já, tudo isso exigiria, talvez, uma personalidade mais crítica. Eu imagino que a relação dele com a Juliet Berto ou com a Helena Ignez foram muito potentes, ele era conterrâneo e da mesma geração que a Helena Ignez, então eles viveram muitas coisas intensas e descobertas juntos. Com a Juliet Berto ele estava vivendo um pouco o que era o cinema europeu, o que era a nouvelle vague, assim, personificado no corpo dessa mulher. Minha história não tinha esse peso, entendeu? Eu vinha, tipo, de outra tribo. Era uma latino-americana, bem mais jovem… Nem tanto, eu era 14 anos mais jovem do que ele, naquela época era uma distância temporal grande, e ele encontrou um frescor n’alguém que não trazia essas referências. É isso, eu acho isso interessante, que eu tenha vivido pouco aquela época. Sacou?
Francis: Você viveu pouco qual época?
Paula: O fato de eu ter sido a última companheira dele, eu não vivi o tempo áureo da vida do Glauber. Cannes, os festivais no mundo, Cinema novo… Eu vinha, por isso que eu lhe digo, mais de um frescor e uma pessoa que não estava em disputa com ele, que estava lá… Não estava em disputa de território, estava lá de uma maneira bem mais humilde a nível de ouvir, de entender, de me deixar levar, sabe? E isso também é importante. Então isso é bom, e por outro lado, eu absorvi essas coisas boas também, positivas, que eu levei comigo para o resto da vida. Que eu levo até hoje.
Francis: Eu queria que você fizesse uma síntese dessa sua trajetória, posterior a esses episódios narrados agora, dos anos 1980, em que você trabalha com vídeo, que que você acha de mais relevante a se dizer sobre o percurso dessa década da qual eu não encontrei muita informação histórica?
Paula: O projeto Olho d’água é desse momento. Mas, assim, entenda uma coisa simples, que não é tanto tempo nos anos 1980, porque quando eu fui filmar o longa Uaka, digamos foi em 85, 86. Eu fiquei dois anos e meio montando. Eu montei em moviola. O filme ficou pronto em 88. Eu ganhei o edital do CTAv (Centro Técnico Audiovisual), mas antes disso eu tinha escrito vários roteiros para o CTAv e não davam certo. E aí eu ganhei o primeiro edital. O filme se chamava Agosto Kuarup e era esse o esse roteiro do Uaka. Foi esse o meu processo. Vamos dizer que o Glauber morreu em 81 e até 82 foi um momento difícil e crítico, eu fiquei viúva com 28 anos, com duas crianças pequenas, então eu fiquei um ano, dois anos, um pouco encontrando um lugar para criar meus filhos. Em paralelo, comecei a fazer o Olho d’água, que é esse filme que é lindo, que tem uns 40 minutos, e tanto que o Leon Hirszman viu esse filme e se apaixonou. Leon foi muito importante, assistiu numa galeria de arte, numa projeção, e se apaixonou. Foi em 1984. Por outro lado, eu fiz coisas com fotografia, participei de exposições de fotografia. Eu tinha essa relação com videoarte, fiz algumas experiências, e digamos que até escrever Uaka em 84, eu já me encaminhei para o Xingu, fui a primeira vez para lá para fazer pesquisa, voltei, e aí depois a filmagem foi entre 1986 e 1987.
Francis: Quanto tempo durou a filmagem do Uaka?
Paula: Durou um mês e meio.
Francis: E o processo todo? Porque você montou o filme também, não é?
Paula: Eu montei com a Aída Marques. E o processo que demorou mais foi a montagem de som.
Francis: Por quê?
Paula: Porque o som já me pareceu mais fascinante que a imagem. Naquele momento já me parecia que eu tinha essa sensibilidade peculiar com o som, então eu trabalhei, me interessei mais. Achei mais fascinante trabalhar o som do que a imagem. Mas eu gostei de trabalhar a imagem. Mas vamos dizer que eu demorei dois anos montando em moviola, todo esse processo, acho que eu fiquei quase um ano trabalhando no som.
Francis: Você falou uma coisa que é importante, que no Uaka o som te pareceu muito mais interessante que a imagem e a questão do som no seu trabalho tem um aspecto sofisticado, complexo. Quando você percebeu que era mais interessante, e o que te dava vontade de experimentar no som? O que havia de instigante nele que você não encontrou no material visual?
Paula: Construir um extracampo. O que acontece é que a metade do som do Uaka sumiu. O técnico de som, que era muito bom, deixou cair na água do rio. Então chegou com ruídos. Então, aquilo que eu tinha era muito menor que a imagem e a gente teve que trabalhar muito a ideia desse som sendo reconstruído de várias maneiras, como você fazer uma salada de alface, tomate, cebola e batata, que era uma coisa que eu comia em Cuba. Na época da escassez, eu passei o ano novo em Havana, que foi a experiência mais linda do povo cubano. Essa experiência da comida me ensinou muitas coisas, que você está no Natal e no ano novo e a escassez pode ser altamente produtiva. Então quando você ia para a mesa, porque a gente foi convidado por uma família cubana para passar na casa deles o ano novo, a mesa tinha assim, uma salada de tomate com cebola, com batata e com alface. Todas as saladas tinham os mesmos elementos, mas todas cortadas de maneiras diferentes. Então o visual era totalmente diferente e você comia aquilo com um prazer enorme. Ou seja, a mesma coisa que a montagem, não precisa ter mil elementos, tinha poucos elementos, mas aquilo visualmente era de
uma beleza e de uma riqueza e de uma potência incrível. Então é isso, a gente aprende que com o som e com a matéria-prima do que a gente filma cada imagem tem um poder extraordinário. Então, cada plano, cada sequência, eu aprendi a utilizar tudo. Tudo, tudo. Não tem material, não tem hierarquias dentro do material. E com os sons a mesma coisa. Na ilha de edição do som, aquilo foi extraordinário, porque eu percebi que aquele não podia ser o fracasso do filme, que eu tinha que construir o som justamente… Então, já que não tinha o som do lago, da laguna, então eu comecei a fazer uma espacialização do som. Então, o que que elas escutariam? Elas escutariam o som das flautas uruá ao longe. Então eu pegava essas flautas uruá que estavam já ao longo do filme e eu ia modificando, ia fazendo associações. Assim, eu aprendi a trabalhar com o mínimo e com o máximo, e o máximo está na imaginação, na maneira como você associa os elementos, como você associa som e imagem, como você cria esses extra campos, como você trabalha a potência da imagem. Ou na repetição da imagem. Ou seja, você pode fazer um longa com cinco planos e com dez sons. É isso, depende da maneira, tudo é uma articulação. Por isso que eu digo que é uma articulação estética dos elementos que você tem nas mãos e de que maneira você organiza e conceitualiza. O conceito é o mais importante.
Francis: O uso da música e o trabalho com som no seu filme são muito especiais, porque eles constituem uma verdadeira paisagem sonora no campo e no extracampo. É como se o som afirmasse ao mesmo tempo na natureza abstrata dele, mas o seu trabalho se esforçasse para encontrar também a origem desse som, tanto a busca do seu aspecto abstrato, o conceito mental da música, a própria experiência da fruição, quanto no material, sua produção, seu trabalho. No sentido, por exemplo, do trabalho dos artistas, no caso do Arto Lindsay, do Arrigo, do Negro Leo, mas também no efeito dessa música sobre os corpos e os espaços. Por exemplo, em Noite. Então sua imagem é uma espécie de ritmo
visual puro. Como que o som determina ou ajuda a compor o trabalho com a imagem?
Paula: Ele vem, às vezes, primeiro. Ele vem em um som, eu ouço o som e já imagino como será a montagem. Não é que ele já preexiste. O som é, de novo, uma questão de encontrar esses ritmos e essas discrepâncias entre som e imagem e ir fazendo essas associações, como eu tenho feito e fiz na Ópera dos cachorros, com minha voz, e isso é um trabalho artesanal e também associativo… É um pouco a relação dos poetas dessa tradição aí, do André Breton, do Paul Éluard… Dessa escritura automática, através da câmera, da mão, da imagem como uma extensão dos olhos, do texto do Stan Brakhage, o “Metáforas da visão”. Então, são os artistas que me interessam.
Francis: O seu trabalho com o som é uma coisa mesmo muito especial, do som como um trabalho da poesia. Eu acho isso muito interessante, porque a poesia é a palavra, e sobretudo, a palavra escrita. No caso do som, o som é uma coisa abstrata. O Ópera dos cachorros é isso, é um trabalho poético no breu, e na tela escura cria uma, várias imagens sonoras. Paisagens. É um filme sem imagem visual, mas que tem muitas imagens, tem muitas camadas, tem uma composição de imagens mentais.
Paula: São imagens mentais, mas isso na obra de muitos diretores é importante, não é? Tem diretores que são permeados por essas inquietações. Tem outros que vão por outros caminhos, que são caminhos mais racionais. Mas a questão da intuição é forte no meu trabalho. Mas não é uma intuição sem base histórica e materialista. Então, é sempre essa contradição, e ao mesmo tempo, os elementos: é o concreto, é o chão, é a terra, e de repente tem esses desvios. Tem um filme que eu acho que é muito sintético, um sintético de quatro horas e meia, que é o Luz nos trópicos onde eu fiz tudo que eu queria fazer durante toda minha vida, sem ninguém me
perturbar, sem medo de arriscar. Entendeu? A última hora e meia do Luz se assemelha ao que eu me tornei, a esse momento meu agora, que eu acho que é um filme rizomático, que é uma combinação de muitos mundos em paralelo, é como se fossem pontos de corte entre vários universos, vários espaços diferentes, de você atravessar um continente assim (faz um som de vôo), já atravessou. Já você está lá, não precisa criar toda uma narrativa para estar lá. Você não precisa ter muitas pontes para ter acesso a esses lugares, a essas imagens que parecem impossíveis de serem conectadas, mas são possíveis de se conectarem, é só você querer. Agora, falando assim parece fácil, mas você tem que ter esse universo dentro de você. Primeiro você tem que conhecer o material de um projeto, e eu trabalho com a memória. Então, quando eu filmo, como estamos sempre perto das imagens, eu memorizo todas as imagens já na filmagem, depois eu repasso o material e estou plena nesse processo. É como um HD (som de teclado), é difícil, meio entre action painting e associativo. É meio um gesto e ao mesmo tempo, mentalmente, é muito rápido. E claro, tudo isso com equipes incríveis que estão perto e que são importantes nesses desafios.
Francis: Paula, vamos tentar definir um pouco o que é esse trabalho da memória na sua obra, porque você definiu para mim a memória dentro de um processo artístico, um processo conceitual de imagens mentais que você articula. Mas a memória também acaba sendo tema e matéria de trabalho como Diário de Sintra e Memória da memória, que são filmes que partem de material de arquivo pessoal e familiar. Ambos constroem uma paisagem poética, articulam um conceito sobre a memória. O que você descobriu de novo em um material de arquivo que você já conhecia? O que você descobriu de novo na montagem?
Paula: É, primeiro que eu acho que a memória é sempre uma construção. Não estou querendo ir contra os historiadores, nem contra os documentaristas. Esses filmes que querem ser muito pontuais e
precisos eu reconheço valor histórico neles e acho muito importantes. Mas quando eu falo de memória, é muito mais aquilo que se apaga do que aquilo que permanece. Então, do mesmo jeito que a memória visual, digamos, é importante para mim, meu instrumento maior são meus olhos. Mas, assim, é a maneira como eu memorizo imagens. Da mesma maneira, eu não memorizo um poema de cor. Eu tenho uma coisa muito estranha, até hoje eu não sei o abecedário total. Eu não aprendo nenhum texto, nunca aprendi nenhuma canção quando eu era adolescente, nunca aprendi a cantar uma música, então eu via minhas amigas cantando música, e eu não sei nenhuma letra de cor. Se você me perguntar meu telefone, eu tenho que ver meu telefone todas as vezes, porque eu não consigo nem memorizar meu telefone. Então, é um problema estranho. É uma falta de memória. E, ao mesmo tempo, é uma grande memória visual. Eu não consigo memorizar um texto, eu entendo, eu leio e tiro um conceito. Mas, por exemplo, o Arrigo [Barnabé], ele fala poemas do Sousândrade, poemas do, sei lá, do Octavio Paz, ele fala mil poemas. Eu tenho atrofia nesse tipo de memória, e tenho vergonha de dizer que eu não sei o abecedário. É verdade, é um problema, é algum tipo de coisa que ainda não analisei, teria que ir num neurologista, mas é algum tipo de atrofia que não me deixa ter esse tipo de memória textual.
Francis: Mas tem memória visual. Como isso funciona criativamente?
Paula: A questão da memória visual é importante. Eu acordo, estou pensando num filme e tenho uma imagem mental e vou atrás dessa imagem, termino encontrando, como uma adivinhação, essa imagem existe e está lá. O mistério das imagens… Então a questão associativa com a imagem, a memorização, a memória da imagem, do espaço, isso é forte para mim. Quando eu fui fazer Diário de Sintra, houve muita coisa que eu apaguei. Apaguei anedotas, apaguei o que as pessoas falavam, apaguei tudo isso. Mas as imagens, eu fui atrás dessas imagens, que não eram exatamente as imagens
que eu tinha vivido com o Glauber. Até porque, eu nunca fui a Monsanto, mas eu me lembrava que Sintra tinha uma atmosfera envolta de névoas e rochas, e eu queria encontrar um espaço que fosse essa Sintra que eu tinha vivido, porque Sintra já não era mais a mesma quando eu voltei para filmar, depois de 25 anos, era uma Sintra cheia de lojas. Então, no encontro das locações eu comecei a mergulhar numa espécie de onirismo, e eu li muito Gaston Bachelard naquela época. Me lembrava muito das mulheres portuguesas, do trabalho das mulheres, como as mulheres estendiam as roupas brancas nos varais. Essa poética do espaço, esses elementos circundando o espaço. Como isso iria se materializar em imagens, a partir de uma certa atmosfera, com uma temporalidade proustiana. E com o som também. Alguns sons que eu lembrava. Então, eu viajei muito para encontrar “nada”, nada encontraria, tudo fugidio, estava totalmente errante, a gente foi com a equipe até a Serra da Estrela, e a equipe falava: “mas por quê que você está aqui? Você veio com o Glauber?”, eu falava: “não, nunca estive aqui.” “Você foi em Monsanto com o Glauber?”, “não, nunca estive aqui”. “Essa casa que você filmou dentro, a cama, você morou aí?”, falei: “não. É outra casa”. Mas era encontrar uma memória que não é traduzível, mas é uma memória, algo que permeia uma memória do corpo, uma memória da memória, um cheiro, uma imagem, um ruído, sabe? Atravessar povoados para encontrar o ruído dos sinos, para encontrar a névoa, para encontrar um pastor, como tem lá no Diário de Sintra. Escalar montanhas para sentir de novo o que seria escalar aquela montanha de Sintra. Porque é isso, os espaços têm mutações também, então, quando você volta para esses lugares, esses lugares já não são aquilo. Então, como passar adiante essas sensações, essa memória que é intraduzível? Então você vai à procura, e o filme é isso mesmo, o filme diz: “caminhos que levam a Sintra, ou talvez, a lugar nenhum”. Mas arte é isso também, não é? Quando você trabalha com materiais, na pintura ou na arte, quando você trabalha a cor, as camadas de cor, aquarela, por exemplo, toda a série do Cézanne, daquela montanha que ele pintava sempre.
Francis: A Saint Victoire.
Paula: É isso. Por quê que a pessoa quer incessantemente filmar a mesma coisa, o mesmo plano, com várias luzes? É isso, isso é um mistério, que leva a gente a criar as imagens. Aí quando você faz as coisas um pouco levado pela intuição, que foi o caso do Diário de Sintra, fui fazer um seminário, uma palestra, uma aula aberta do Roberto Machado sobre o Proust. Foi quase no final da montagem do Diário de Sintra. Aí eu fui lá e ele falou desse livro do Deleuze sobre o Proust, Proust e os Signos, e da memória involuntária. Aí eu me lembro que isso foi um tesouro, porque eu fui lá, comprei o livro e entendi exatamente esse procedimento associativo, sonoro, visual, de uma procura de um imaginário que me levasse a essa concretude, a uma viagem real, mas, simultaneamente, à construção de espaços mentais, imagens mentais, que não eram exatamente os mesmos lugares em que eu tinha ido com o Glauber, mas estava tudo ali. Estava tudo ali. O sentimento, essa memória foi construída assim, a partir dessas lacunas, e da impossibilidade dessa restituição, porque a gente também tinha aquilo, já não pode mais ser mais restituído. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas querem fazer esses filmes históricos, muito precisos, com depoimentos. Mas eu acho que todo depoimento é sempre uma ficção.
Francis: Você fez filmes que são retratos ensaísticos em torno da persona de atrizes, cineastas, músicos, artistas em geral. São retratos digressivos dimensionados pelo tempo e pelo atrito das imagens na montagem, e também na fricção entre o documento e a performance. Vemos isso em Vida, que é com Maria Gladys, em Agreste, que é com Marcélia Cartaxo, em Sutis interferências, que é com Arto Lindsay, e em É rocha e rio, Negro Leo, com Negro Leo. Memória da memória não deixa de ser também, um retrato, um autorretrato. O que te estimula nessa retratística?
Paula: Eu acho que os retratos têm essa vontade também de estar terrena, de conviver com o outro, coisa que é importante para mim. Tanto que eu consigo produzir um filme como É rocha e rio, e um filme como Luz nos trópicos em paralelo, porque chega uma hora que aquilo, aquela substância começa a se esgotar e a me esgotar, como no caso do Luz nos trópicos. É porque é como se você estivesse manejando imaginários muito diversos, e às vezes você precisa descer no terreno das palavras. Então, eu faço em paralelo o filme do Leo, que me coloca no eixo, “ó, você tá aqui, você tá aqui nesse momento, você tá viva, estamos no Brasil, esse é o Brasil que tamos vivendo, Paula, estamos aqui”. Não é? E é isso. E às vezes eu acho que isso está sempre oscilante dentro dos projetos meus. É uma curiosidade imensa de ouvir os outros também, porque até agora eu só falo “eu, eu”. Sou muito autorreferencial. Mas, por outro lado, eu sinto que é muito importante ouvir o outro, você se deter e se reconectar com o mundo que está aí. É isso. Eu acho que o fato também de eu ter vindo de outro país, me reconecta de uma maneira, um pouco o que a gente falou, uma certa pureza de informações a nível de tudo. Então, pureza é assim, não é que eu sou pura, eu não sou nada pura. Entender a Maria Gladys, sem ser necessariamente amiga da Maria Gladys. Porque todo mundo acha que eu era amiga da Maria Gladys. Não, eu nunca fui amiga da Maria Gladys, nem da Marcélia. A Marcélia eu conheci na filmagem. O Leo eu conhecia, óbvio, mas também é a curiosidade que me leva a conhecer pessoas sem fazer, por exemplo, uma pesquisa muito grande sobre elas. Mas o tanto que Marcélia me impactou com os filmes que eu vi com ela já foi o suficiente. Às vezes uma imagem com a Marcélia, uma foto, uma imagem foi tão impactante, que me levou a ela. Então, com a Marcélia, no caso do Agreste, nos conhecemos lá. Então é assim, é um pouco um risco que se toma, porque é um trabalho de persuasão, é também uma sedução que se dá, é uma relação que se constrói no plano do próprio processo da filmagem, de você filmar o outro, mas também do outro também se
aproximar. É um trabalho mútuo de reconhecimento, de dois corpos, eu, meu corpo, uma mulher com outra mulher, então é uma espécie de entender esse lado do feminino também no meu corpo através dessa mulher, e entender de uma maneira mais geral em Agreste, porque não é só a Marcélia. Ela é um ponto de partida para entender outras coisas.
Francis: Quais coisas?
Paula: Que as personagens estão aí, também, não só para falarem da sua história pessoal, mas para serem articuladoras de novos espaços. Pra serem mediadores. Elas fazem mediações também com outros espaços. Entendeu? Como no caso da Marcélia, o filme se chama Agreste, partiu dela e era para ela ter feito uma coisa bem menor, e aos poucos ela foi tomando conta de tudo. Ela foi me conduzindo a esses outros lugares. Então, eu acho esse filme lindo, o Agreste. E, ao mesmo tempo, é a memória dela, mas também poder chegar a outros territórios, outros lugares, tanto que tem um momento de uma manifestação de mulheres, de mulheres camponesas do MST. Então o Agreste está apelando, também, através da Marcélia, está falando da minha avó e de outras tantas mulheres. E eu me incluo aí. Então são meio retratos e não são, não é?
Francis: Me parece que a cada filme você reinventa a escritura fílmica no sentido de que de trabalho em trabalho você inventa novos gestos estéticos, códigos específicos, que parecem surgir de uma relação particular das personagens com os espaços. Mas, por mais que os filmes sejam estilisticamente diferentes entre si, me parece que há uma coesão em Agreste, Exilados do vulcão, Luz dos Trópicos e outros… Essa dinâmica de inventar sempre novos gestos estéticos é uma busca sua de saída, ou é uma coisa que você vai se dando conta no processo criativo? Como é que funciona?
Paula: As duas coisas, porque tem uma intenção que é clara, não é só performance e não é só improviso. Isso que eu estou te falando, tem ponto de partida muito concreto, uma concretude que vem da pesquisa. É diferente você ter intimidade com a pessoa, ou você conhecer, ou você fazer, tipo, uma entrevista. Não, isso eu não faço. Ou coisas assim, investigativas, de conhecer exageradamente o trabalho do outro para chegar já com uma espécie de pontos já esclarecidos, achar que você entende suficientemente. Eu fiz isso, aliás, sabe com quem, e levei um esporro? Com o Renato Berta, que é outro filme que você não conhece.
Francis: Não conheço.
Paula: Cara, eu fiz, ao longo desses anos, uns cinquenta documentários com personagens, a partir de personagens. Na Colômbia fiz muitos, muitos, que aliás, estou tentando recuperar agora, e fiz a série Os Resistentes. Dessa série o primeiro é Renato Berta. E eu cheguei lá sabendo que ele era um diretor de fotografia incrível, e eu estava muito assustada e estudei toda a vida do Renato Berta e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, um monte de perguntinhas, muito formais, muito formais, sobre fotografia. Ele primeiro marcou num lugar que era o café mais antiestético do mundo. Era um café de rua em Paris, na Bastille, o mais tumultuado que podia ser, tipo na Lapa. Sei lá, um lugar assim, cheio de lixo do lado. Aí eu cheguei toda certinha com as perguntas e ele olhou e falou assim: “tanta pergunta desinteressante. Você está aqui com uma série de perguntas, vai lá, faz um Google, eu não vou falar disso não. Você tá aqui por quê?”. Aí eu falei “bom, eu tô aqui porque eu não sei porque eu tô aqui. Sabe por que que eu tô aqui? Porque eu sou uma mulher latino-americana, porque você me trata assim, porque você fala que minhas perguntas são isso, então eu tô aqui para um embate, então vamos discutir. Eu não tô aqui pra nada. Se você quiser conversar comigo, então a gente conversa. Mas então a gente zera e você fala sobre o que
você quiser”. Cara, ele me adorou, e é um documentário lindo, é um longa, tem uma hora e vinte. A gente ficou amigo, mas isso me mostrou porque que eu estava lá. Eu apenas queria conversar com ele e chegar a algum lugar desconhecido. E pela primeira vez eu fiz exatamente ao contrário do que eu estava habituada e levei um mega esporro, parecia uma boba lá com um monte de perguntas. Então, foi lindo, porque quando você se entrega ao ato de não saber, de você realmente ir conhecendo aos poucos durante esse processo e de você não chegar tão severa e tão firme, você descobre coisas recônditas. E começou a criar um ambiente de que aquilo ele que ele estava falando, ele estava falando contra o cinema francês, ele estava falando justamente de tudo que não estava escrito no papel, entendeu? Bom, então, isso é um exemplo de como você chegar a um ser desconhecido, que você não é justamente uma jornalista, então você vai descobrindo, você vai com menos certezas e com mais dúvidas e mais curiosidade, eu acho que a coisa rola de uma maneira mais interessante.
Francis: Você falou de uma relação com o personagem que é elucidativa, mas e com o espaço?
Paula: Por exemplo: então eu chego e já me situo do ponto de vista da câmera, então eu sei que, por exemplo, no caso da Maria Gladys, a primeira coisa que eu vi foi a janela. Aí eu já sei o lugar da câmera e aquilo que vai se tornar personagem do filme, que é a janela. Então eu vejo a espacialidade. Eu vejo os pontos de fuga, os pontos principais. Então eu vou agregar elementos que estão naquele espaço. Eu não vou botar a Gladys num lugar idealizado. Mas eu vou criar uma percepção espacial de onde que esses personagens se encontram para entender que lente, que imagem, o lugar da câmera, coisas assim, como qualquer diretor. Mas isso é muito rápido, entendeu? Não preciso de muito tempo para fazer isso. Isso eu faço na mesma hora. Não sei se estou chegando aonde você quer chegar.
Francis: Chegou. Tanto que a próxima pergunta é um passo além, é a questão da montagem. Vendo É rocha e rio, Negro Leo e Luz nos trópicos, seus filmes mais recentes, eu acho que o tempo da montagem desses filmes, a maneira como você monta, é estranho, no sentido de um estranhamento que chama atenção para o corte. Nenhum corte é gratuito, nenhum corte tem o mero efeito de avançar a narrativa ou indicar um significado fechado, mas estabelece um ritmo particular, quase como se os seus cortes nesses filmes fossem viradas rítmicas de uma música. Qual o sentido da montagem para você assim no seu trabalho, pegando um pouco como exemplo esses dois filmes que eu citei?
Paula: Para mim é tudo conceito, assim, o fato de tomar decisões. Eu tomei decisões assim. O filme do Leo ia ser na ordem cronológica, que só seria possível o entendimento dessa lógica do pensamento dele sem manipulação. Essa lógica me parecia importante, que é uma coisa totalmente anti-cinema, porque o cinema justamente cria a partir da manipulação dos tempos e das coisas, você cria mundos artificiais. Então não quer dizer que aquilo seja totalmente entregue, porque tem algumas coisas que tiram um filme dessa modalidade consecutiva, que é, por exemplo, no começo a câmera estar na rua e o filme começar olhando de fora, que é uma coisa que eu nunca fiz, um personagem ir para a varanda, foi uma coisa que na hora eu percebi, que muitas vezes eu falava com o Leo assim, e que muitas ideias podiam ser ditas assim, ele lá em cima e eu embaixo. E depois tem a montagem que é duplicada na subida das escadas. Tem uma subida que é com o Tim Maia e tem outra subida que é quando, finalmente, o microfone consegue entrar com a equipe e o Leo está sentado, e ele até comenta o fato para a Ava. Porque a gente microfonou e ele fala assim: “ah, não fica com medo, que quando chegar aqui a gente começa a falar”. Porque a Ava estava com dúvidas, ela não sabia direito. Então essa parte ficou aparente, mas nem toda. Então depois também essas passagens do movimento da câmera,
como a câmera vai se deslocando no espaço eu acho muito interessante. Tem uma coisa meio hipnótica, que aconteceu nesse dia da filmagem. Aqui tem uma espécie de movimento, e os corpos vão girando e o Leo vai girando junto. Isso também acontece no filme da Maria Gladys, as pessoas começam um pouco mais formais e ao poucos… Poderia ser evidente, mas nem com todo mundo acontece isso, entendeu? E aos poucos… Bom, aí na própria filmagem você tem a temperatura da potência do material. É algo como se você estivesse tocando um show, uma coisa, uma performance musical. Eu não sou música, mas eu acredito que é isso, você já tem uma sensação de quanto isso é hipnótico para a equipe, para todo mundo. Então esse deslocamento da câmera é muito interessante. E, por fim, tem segredos aí também. Segredos de materiais de aproveitamento. Na hora que ele vai na luz e o Lucas começa a dizer: “ah, mas tá superexposto, tem muita luz aí”, então o Leo vai para frente. Então na montagem eu começo a perceber, a montagem é preciosa para mim, a montagem é a coluna vertebral de qualquer filme. São filmes de montagem que se dão na montagem, não é? A montagem é preciosa em todos os filmes, até nos filmes mais comerciais. Mas são filmes, às vezes, que partem de lugares diferentes. Os filmes, por exemplo, que têm um roteiro muito bem estruturado, acredito que são filmes que partem de montagens muito guiadas por uma lógica anterior, tem uma precisão. Não é isso?
Francis: Sim, geralmente.
Paula: No caso da montagem dos projetos mesmo, o filme do Leo, ele se dá na montagem, no tempo dele. Então é uma coisa que não é negociável, é aquilo mesmo. E também são gestos políticos, porque a questão da cota é tão discutida, o tempo de tela, o que é ser centro, o que é ser epicentro, o que está na margem, o que é centro e o que está na margem. Então essas discussões são muito interessantes, e, na realidade, o filme do Leo coloca isso, quem
está vendo quem, e o tempo de escuta está em toda essa discussão sobre quem ouve e o tempo que você se dedica a essa escuta. Acho que o Leo é exatamente isso. Mas isso não pode ser feito com qualquer material, não pode virar modismo. A imagem tem uma espécie de anatomia. O Bressane fala uma palavra, como se fosse uma coisa assim, uma espécie de… Quando você faz um cadáver e você disseca. Como é que se chama isso? Não é dissecar, é quando você vai criar toda uma lógica anatômica desse corpo. Acho que o filme é um pouco isso. Depende do material, depende das imagens, depende do que é dito…
Francis: O filme tem uma lógica própria. Não é uma coisa que é inventada, tirada da cartola depois, não é? Os filmes têm, digamos assim, uma ecologia própria.
Paula: Isso, exatamente. É um corpo. Tem uma coisa precisa e ao mesmo tempo tem uma coisa intuitiva. É uma questão que tem a ver com uma patologia, essa é a palavra.
Francis: Uma patologia. Sim.
Paula: A patologia de cada imagem. É isso, é interessante isso.
Francis: Eu quando estava bolando a entrevista, perguntei para dois amigos que você conhece e admiram muito seu o trabalho, Bernardo Oliveira e o Juliano Gomes, o que que eles perguntariam para você. E cada um fez uma pergunta, que eu queria te passar agora. Vou fazer a primeira pergunta que é do Juliano: “queria saber mais sobre você e o Brasil. Que você tem uma vivência, uma relação forte com a América do Sul. De certa forma, você estar no Brasil trabalhando acaba sendo uma escolha. Tenho curiosidade sobre o Brasil da Paula, o Brasil que te interessa filmar. Exilados, o Luz nos trópicos ou o Sutis interferências são filmes muito particulares, que têm uma ideia de Brasil que é muito
particular, que ela não é comum. Então eu queria saber um pouco que Brasil é esse país que te interessa, que você filma”.
Paula: É sempre um olhar deslocado. Um pouco deslocado, e ao mesmo tempo, voltamos para a questão dos personagens, da Maria Gladys, de como esses personagens, pessoas, mulheres, homens brasileiros me conduzem pela mão para entender melhor esses territórios. Me ensinam e me levam a essa compreensão. Mas chego com uma espécie de olhar estrangeiro mesmo. Ser estrangeiro mesmo no seu próprio país é um sentimento que existe, acho difícil apagar as arestas e lutas históricas, respeito muito o espaço do outro, cada um carrega sua história junto ao corpo, pode até existir uma identificação, uma união entre as partes, mas eu não sou o Leo, eu não sou a Gladys, é isso, não é uma simbiose. Porque tem cineastas que filmam o universo achando que são essas pessoas “iluminadas”, que são ambições que eu não tenho, acho um pouco demagógicas e um pouco diletantes e um pouco oportunistas. Eu quero estar junto com esses artistas que fui conhecendo ao longo de anos de trabalho e filmagem, mas eu não posso dizer que me apropriei da alma desses personagens que a eles pertence, que está materializada, por exemplo, na prodigiosa atuação de Maria Gladys no filme Vida. Acho isso uma prepotência, uma vergonha, você querer se apropriar como alguns cineastas fazem da história do seu povo, e tornar-se centro dessa História. Você querer se apropriar de tudo, devorar tudo? Então meu gesto procura o contrário, é um gesto de aprendizagem, de poder trabalhar essa matéria humana, essa matéria valiosa, de fortalecer esse diálogo entre e com artistas diversos. Mas eu não sou o Leo, eu não sou a Gladys, eu não sou o Arrigo, e engatinho na descoberta desse universo muito particular de cada um deles, lembrando aqui o ensaio Metáforas da Visão, do Stan Brakhage, quando ele diz que temos que reaprender a observar o mundo como uma criança que engatinha na relva de um parque através das frestas dos dedos da mão… Esses momentos em que esses universos se conectam ou
deslocam são muito inspiradores. Eu não sou mineira, mas eu faço um filme em Minas. Eu não tento ser mineira. Ou falar que eu sou mineira… Não, não sou mineira. Então isso tem que estar muito claro no meu trabalho, eu não possuo o outro como um ato de devoração, de apropriação e de lugar de fala. Assim: “ah, sou eu que fiz isso.” Não, não sou. Sou apenas um corpo que é um corpo. Eu trabalho muito, assim, acho que qualquer gesto que me pareça demagógico eu retiro de qualquer projeto meu. Qualquer farsa, qualquer utilização para uma coisa. Então eu sinto que nesse sentido eu sou uma exilada, de certa maneira. Então eu diria isso para o Juliano, que nem tudo eu sei, eu busco porque eu não sei, não sei porque que são essas pessoas e não outras, não sei porque essas conexões vieram antes, mas essa é a minha vida. Não sei, não tem uma lógica premeditada assim. Tem uma curiosidade e tem, talvez, a compreensão que essa pessoa tem muito a dizer, como qualquer vida é interessante, e que me apaixona, portanto, eu posso me dedicar a trabalhar nesse projeto com paixão. Eu não faço produtos, eu faço encontros que se tornam um pouco ensaio, um pouco conversa. E nunca é uma coisa muito elaborada, porque eu vou ao encontro dessa pessoa, não de outra. São intenções pouco elaboradas de uma maneira racional para mim.
Francis: A última pergunta aqui é do Bernardo, ele diz o seguinte: “os filmes da Paula partem de indagações não necessariamente atreladas ao campo cinematográfico. Arte sonora, antropologia, literatura, política. E acho que isso tem a ver com o fato de que ela é, também, uma câmera woman andarilha, antes de ser uma cinéfila ou uma metteur en scène. Paula, quanto vale a estrada?”.
Paula: Eu acho que essa ideia de andarilho é isso mesmo, a ideia de ser câmera. Hoje em dia tem muitas câmera woman diretoras. Mas é assim, é entender que hoje em dia eu tenho uma capacidade de produzir um trabalho sozinha, se eu quiser. Não porque eu sou egocêntrica. Todo mundo é um pouco egocêntrico. Quem diz
que não é egocêntrico está mentindo. O egocêntrico fala muito de si, mas eu falo dos outros também, porque eu acho que esses projetos não existiriam se não fosse pelos outros, pelas pessoas que me acompanharam ao longo desses anos e que justamente pelo fato de eu ser estrangeira e de não pertencer a nenhum lugar específico, não ser identificada com nenhum movimento, nem como um personagem icônico dentro da cultura brasileira, nem como uma artista plástica e artista visual, nem como uma poeta, então poderia ser um fracasso, mas eu consegui. Uma coisa que é importante é a disciplina, eu consegui focar nessa produção audiovisual. Mas eu acho que bem ou mal, dentro da linguagem audiovisual, eu consegui produzir muita coisa, que me parece ter alguns momentos especiais, e acho que dentro de cada filme encontraremos momentos fortes. Aliás, como na obra de qualquer diretor, não é? Mas eu sinto que é um projeto de vida que foi, mesmo eu sendo andarilha, que foi feito com muita potência e com estratégias muito firmes de produção. Que eu acho que isso é importante, pensar que eu tenho 68 anos agora e que eu tenho uma conexão muito forte com a obra de jovens realizadores, e não é de agora. É uma estrada que eu estou fazendo desde que eu voltei ao Brasil em 2000. Então não é uma coisa artificial: “ah, porque eu sou jovem, porque eu tô conectada na onda”. Eu nunca fui vista como cineasta, mal era vista… Eu nunca fui vista como nada, para começar. Isso no fundo colaborou muito com essa liberdade minha, e com essa amplitude de eu ter me nutrido também muito dessa produção mais jovem. E uma das coisas que me afetou muito positivamente foi o trabalho de novas gerações, eu estou permanentemente em contato com a produção de jovens, cada vez me conecto com as pessoas que me interessam. Talvez o fato de eu ter sido professora durante vinte anos, do Parque Lage, me fortaleceu bastante. Então o espaço, por exemplo, de Tiradentes, é um espaço muito importante para mim, porque foi lá onde eu comecei realmente a criar esse tecido de me deixar iluminar por obras de outros realizadores que me influenciaram bem mais
do que essa cinefilia tradicional europeizada. E é isso, eu não mistifico nada da Europa, porque eu nasci lá. Poderia ser francesa por opção, e querer me assemelhar. Eu tenho desprezo pelo poder em todos os seus lugares, desprezo tudo que está na moda, quem está no poder, quem está com a palavra, eu prefiro estar por fora de todas essas coisas institucionais, então eu me sinto bem à deriva, me sinto como uma andarilha, mesmo. E me sinto bem descobrindo esses universos novos com muita curiosidade. E isso que tem me possibilitado fazer filmes assim também. Não acreditar tanto em que: “ah, aquele filme é o que pode dar certo e é por aí que eu vou”. Eu tenho uma relação com a crítica muito boa, talvez uma crítica muito boa, assim, não oportunisticamente, porque eu leio crítica, eu gosto de ler crítica. Então isso é muito importante para mim, porque às vezes eu leio uma crítica que tem uma influência enorme no meu trabalho. Eu leio menos literatura do que ensaios, do que filosofia, do que crítica. Acho a crítica fundamental até para o crescimento do próprio cinema, e eu acho que teve uma geração de críticos que foi uma geração que eu encontrei quando voltei ao Brasil, que foi fundamental para minha persistência no cinema. Essa persistência, esse acreditar que é possível, eu devo muito à crítica também, porque a crítica me apoiou. Um tipo de crítica, uma crítica que eu leio, que eu respeito. Porque a crítica também não é um universo: “ah, a crítica”. Tem pessoas que escrevem muito e não são críticos. Eu prefiro estar conectada com o meu tempo, no fato de eu ser uma mulher colombiana mesmo, de eu entender essas conexões, e acho que agora nesse momento de maturidade eu estou muito mais feliz, porque estou produzindo bastante. Eu não tenho vergonha de errar, vou fazendo, fazendo, e minha palavra é trabalho. Eu trabalho muito também. É errante, mas você volta e senta e produz. Porque é uma maneira de estar viva.
Publicado originalmente no Catálogo da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, dezembro de 2020.
Paula Gaitán: fronteiras fluidas, amálgamas dissonantes
Victor GuimarãesPaula Gaitán nasceu em Paris, em 1954, e cresceu entre a Colômbia, o Brasil e a Europa. Seu pai, Jorge Gaitán Durán, foi poeta. Sua mãe, Dina Moscovici, foi escritora, diretora de teatro e cineasta. Rodeada por diferentes formas de arte e movendo-se constantemente de lugar em lugar, Paula transformou esse estado de motus perpétuo (para lembrar o título do último romance de sua mãe) no coração de seu trabalho artístico. No interior dos filmes de Paula, é possível reconhecer seu trabalho como poeta, como fotógrafa e artista visual, sempre a irrigar seus gestos cinematográficos. Povoados de fragmentos literários e imagens de arquivo, performances marcantes e usos extraordinários do som, experimentos abundantes com texturas e composições de cor, seus filmes frequentemente nos lembram que o cinema pode ser um lugar de fronteiras fluidas. Seja em filmes, obras para a televisão, videoclipes ou instalações, o mundo de imagens moventes construído por Paula é uma força de deslocamento contínuo e troca infinita.
Em Uaka (1989), seu encontro com os povos indígenas do Xingu torna-se uma exploração sensorial da paisagem, potencializada por um exuberante trabalho com as cores resultantes da filmagem em 16mm. Em Diário de Sintra (2007), obra em que a cineasta revisita seus últimos meses passados com Glauber Rocha e seus filhos Ava e Eryk em Portugal no final dos anos 1970, a câmera funciona

como uma espécie de instrumento tátil, esfregando superfícies e auscultando espaços, enquanto fragmentos de textos filosóficos, memórias e poemas preenchem a banda sonora. Em Vida (2008) e Agreste (2010), respectivamente dedicados às atrizes Maria Gladys e Marcélia Cartaxo, Paula desenvolve uma forma única de retratismo experimental, que terá continuidade em filmes como Sutis interferências (2016), É rocha e rio, Negro Leo (2019) e Ostinato (2021). Gaitán se aproxima de artistas plásticos, músicos, atrizes e atores, e fabrica um método muito peculiar de estabelecer uma relação entre o retratado e a retratista, tomando emprestados aspectos formais da obra de quem é filmado e traduzindo-os em gestos cinematográficos. Em Sutis Interferências, tudo o que costuma ser descartado na banda sonora de um documentário – as palavras sobrepostas, os momentos de desacordo, o barulho do ar-condicionado – é assumido por Paula como o tema principal do filme. Ela empresta o leitmotiv da interferência, presente na obra musical de Arto Lindsay, e o traduz para o cinema, trabalhando com uma fotografia altamente contrastada, abusando dos sons justapostos e de uma montagem em múltiplas camadas.
Seus filmes têm um aspecto aparentemente contraditório: são ao mesmo tempo etéreos e densamente físicos. Como em Noite (2014), são evocações imaginativas, mas ao mesmo tempo estão sempre enraizados no investimento do corpo, na materialidade das fotografias, nas texturas dos tecidos, na presença física da paisagem. Na instalação Se hace camino al andar (2021), o deslocamento se torna motivo visual e premissa fílmica, e a paisagem cresce como presença física ao mesmo tempo em que a duração transforma a coreografia repetitiva em abstração.
Mesmo em ficções narrativas ambiciosas e robustas como Exilados do vulcão (2013) e Luz nos trópicos (2020), o desejo de contar uma história é sempre contrabalançado por um pulso experimental. Nesses filmes, o edifício ficcional ergue-se inteiro e altivo, apenas para desmoronar em mil pedaços. A construção minuciosa da cena dá lugar a um amálgama dissonante de
performances, derivas na epiderme das coisas, variações abstratas. A impressão mais marcante diante desses filmes é a de uma obra orgulhosamente rasgada por dentro, cujas entranhas somos convidados a habitar. Paula Gaitán sempre praticou um cinema que eleva o esboço à mais alta densidade artística. Seus filmes são ao mesmo tempo precisos, extremamente rigorosos e capazes de produzir a impressão vívida de um ateliê aberto à invenção. Na obra de Paula, para manter o vigor da descoberta, é preciso livrar-se de qualquer pretensão de totalidade.
No contrafluxo da banalização codificada
Cléber EduardoHá uma dificuldade de se acomodar Paula Gaitán na história recente do cinema brasileiro. Francesa quase por acidente, colombiana por ascendência paterna e brasileira em sua experiência artística/existencial, a artista atua no deslocamento. Estar deslocada não é estar à margem. Nos últimos 14 anos, esteve entre as cineastas mais ativas do período, realizando uma variedade de longas documentais ou de ficção, curtas, clipes e outras experimentações. Não esteve à margem. Pelo contrário. No entanto, sua obra é deslocada, em certa ou ampla medida, da produção contemporânea à sua.

Paula Gaitán não é assinatura de filmes de personagens comuns (pelo contrário), não pratica subjetivismos autobiográficos (Diário de Sintra não é isso), não lida com questões emergenciais e políticas de modo direto (É rocha e tio, Negro Leo não é isso, apesar das falsas aparências). Se usa a subjetividade e as imagens de arquivo, outras duas práticas em alta, é de um modo muito particular. Paula Gaitán não é marca autoral das coisas passageiras e concretas, mas das permanências em movimentos poéticos. Permanência é o que dura na dissipação, é memória, são princípios de arte.
Seu estilo marcado por ênfases formais não a situa de largada na tradição moderna do documentário brasileiro, constituído
especialmente pelas imagens de seres ordinários e das camadas profundas da cultura, expressas por meio de individualidades ou tipificações falantes e em ação. Nada poderia ser mais distante de seus filmes documentais do que as dinâmicas de Eduardo Coutinho, Maria Augusta Ramos, João Moreira Salles, Marilia Rocha, Cristiano Burlan, Claudia Priscilla ou Kiko Goifman, marcas fortes dos últimos 20 anos, cada uma delas distintas umas das outras, mas mais próximas entre si do que de Paula Gaitán.
Seu formalismo ensaístico talvez se aproxime, de modo muito genérico, das artes visuais e de raros outros cineastas, entre os quais: Cao Guimarães, Carlos Nader, Joel Pizzini, Eryck Rocha (seu filho). Se realiza filmes a partir de Glauber Rocha e de Maria Gladys, cineasta e atriz de intensidades extremas e de percursos monumentais em importância para o cinema moderno brasileiro, seu tom é muito distinto e até recolhido na comparação com quem retrata, como se a projeção de vozes e de corpos de ambos se desse com minimalismo, com uma calma ao mesmo tempo destoante dos dois e ainda mais reveladora.
Não são biografias oficiais ou escandalosas, como desde os anos 90 do século XX vem pipocando nos longas-metragens no Brasil. Seus retratos adotam a estratégia de Maya Daren ao aproximar a autoralidade do amadorismo, a arte do cinema em sintonia com a produção menor, a inventividade colocada à frente do profissionalismo técnico. Amador no sentido da realização por necessidade de expressão e por amor à realização, sem nada optar pelo dever ou pela conveniência.
Com Pizzini e Nader, a aproximação é, também, outra: ela e os dois criaram os mais fortes e mais inventivos retratos de artistas dentre os retratos realizados nessas primeiras duas décadas do século. Artistas modernos, inventivos, transformadores: Glauber Rocha, Maria Gladys e Arto Lindsay (Paula Gaitán), Leonardo Villar, Helena Ignez, Glauber e Ney Matogrosso (Pizzini), Waly Salomão e Leonilson (Nader). O início do novo século debruçou-se sobre os vulcões artísticos e disruptivos do século XX. Como
encontrar a forma justa e pertinente para lidar com as obras dessas genialidades da criação?
São filmes realizados menos sobre os retratados e mais a partir deles, por meio deles e na relação com eles, deixando o próprio ato de retratar como parte orgânica e estética do material fílmico. Predomina a tradição moderna do retrato que retrata quem está retratando. Essa ideia transforma o visor da câmera e o monitor do computador em espelhos de quem cria. É uma forma de se refletir por meio de outros gestos da criação, por meio de outras criações, sem deixar de estar em relação a essas obras e artistas, sem querer apenas colocá-los em uma cinemateca, sem filmar como arquivista ou profissionais da biografia, mas como aproximação com atrito, com fricção e com extrema autoralidade. Diário de Sintra (2007) é antes um dispositivo estético de especulação de uma memória particular e de um espectro cultural, de preservação da imagem e de atestado de fantasmagoria em torno de Glauber Rocha, tendo as fotografias como documentos de óbitos de um passado e também como seu certificado de embalsamamento, para usar o termo de André Bazin em “Ontologia da imagem fotográfica”, embora com um uso antes formalista e nada realista. O diário é de Paula e não de Glauber, a relação com o espaço português é dela, o estilo de delicadezas visuais nada lembra a atitude estética do cineasta, seu companheiro quando de sua morte.
Vida (2008) é uma coreografia de imagens e da memória de Maria Gladys, mas também de algumas fixações visuais e rítmicas da artista Paula Gaitán, o poético como inevitabilidade mais que como uma escolha, o poético como a sujeira do ruído, da captação, sem uma esquematização para sua obtenção. Por 15 minutos, nada se fala. É cultivada uma atmosfera ritualística por meio da qual se invoca uma vida e um temperamento de uma grande artista e militante do antiglamour. Convivem sem conciliação e com alguma tensão a abordagem mais direta e o anteparo artificial, a crueza e o verso visual, Maria Gladys e a autora Paula Gaitán.
Filmes de encontros não solicitam apaziguamentos. As diferenças podem ser muito mais interessantes.
Esses dois filmes ensaísticos, Diário de Sintra e Vida, vinculados ao campo do documentário, são do fim da primeira década do século. Um período de sedimentação do digital na captação de imagens e do modelo de entrevistas, catapultado por Eduardo Coutinho, como a forma mais direta, solidária, justa e mais política de contactar os outros de classe e de cultura. Há entrevistas nesses dois documentários de Gaitán, mas a razão e a utilização são outras. O que se diz não é apenas para nos situar, mas para fazer parte da expressão sonora. A lógica de encontro mediado pela câmera não se dá entre os corpos e vozes, necessariamente ou apenas assim, mas por intermédio de estratégias formais de diálogo.
Se a estetização é cara a Paula Gaitán, a continuidade da filmografia documental na década seguinte despertará modificações, radicalizando o sentido de encontro na própria forma de filmar em Sutis interferências (2016) e em É rocha e rio, Negro Leo (2019), filmes aproximados em suas radicalidades formais, mas também em quase tudo distintos. Se o primeiro é de intervenção fílmica, com o filme estando em cena na jam session de Arto Lindsay e dela participando ativamente com suas escolhas, o segundo é de recuo, com as manifestações visuais do filme entrando como rebarba e não como fundamento.
As palavras importam, principalmente em É rocha e rio, Negro Leo, um filme de ideias, de um movimento elíptico, cíclico e circular do pensamento do artista diante da câmera doméstica. Talvez importe menos o conteúdo do que é dito pelo músico por tanto tempo e mais os vacilos, as redundâncias, os esquecimentos, a relação entre a forma desse pensar e o consumo de aditivos defendido no começo como forma de se alterar a percepção das coisas. Paula Gaitán provoca, mas, acima de tudo, deixa o verbo solto.
Sutis interferências é o exato oposto de outro grande retrato de criação musical, Ne Change Rien (2009), de Pedro Costa, a filmar a cantora Jeanne Balibar em preto e branco tranquilo. O cineasta
português ali é um olhar atento e quieto. No encontro com Arto Lindsay, Paula é uma participação, não somente uma testemunha. Temos a sensação física da música, como se a câmera fosse um instrumento, a diretora fosse uma instrumentista e o filme fosse a obra resultante – como é. O plano se torna nota musical de uma partitura em construção ao vivo. Noite (2015) é um complemento, completamente diferente, sem palavras, quase como um filme-vinil com faixas quase independentes e uma unidade a amarrar fragmentos autônomos: o close up expressivo e transcendental. Se passamos pelas palavras e pela música que são antes palavras e notas, antes de serem funcionalizadas na linguagem, é porque a palavra e a música são sons e sons são ritmos. Se à primeira vista é a luz e o enquadramento que particularizam a obra de Paula Gaitán, logo se percebe que é uma obra centrada no ritmo, na frequência, nas variações de intensidade, abrindo mão da harmonia e do equilíbrio em nome da volúpia de fazer de cada imagem algo importante. Há uma cruzada contra a banalidade e contra a vulgaridade visual no conjunto das obras. Há respeito pelo ato de tornar uma imagem pública.
As imagens e os sons de Paula Gaitán, em si mesmos e quando colocados em relação na montagem, são de uma linhagem do Modernismo experimentador, rebelde, que recusa os sistemas estruturantes já transformados em códigos e em convenções. Procura-se em cada imagem uma forma outra de aproximação com qualquer coisa, com uma foto, um objeto, uma parte do corpo, um espaço, uma ação em um espaço. Na pintura, Cezanne é um emblema desse mesmo movimento.
Os cineastas Stan Brakhage e Luis Buñuel, conscientemente ou não, surgem como matrizes. Não pelos filmes que realizaram, não, mas por um texto que cada um escreveu: “Metáforas da visão” (Brakhage) e “Cinema: instrumento de poesia” (Buñuel), ambos presentes na coletânea A experiência do cinema, organizada por Ismail Xavier. Os dois cineastas seguem caminhos muito distintos de abordagem, de estilo de escrita e de intenções nas
afirmações,
mas na essência reivindicam uma mesma coisa: uma arte mais rica e menos direcionadora.
Brakhage defende a ruptura com a lógica do reconhecimento que pauta a produção de imagens no Ocidente. É preciso que a imagem, rompida com a familiaridade de sua percepção, gere conhecimento, como se fosse a primeira vez de nosso olhar com aquilo visto por nós, como se fosse uma maçã de Cézanne. Buñuel defende a preservação do mistério no cinema e seu afastamento de um realismo copista das aparências.
Em suas ficções, que reivindicam uma noção qualquer de narratividade e de dramaturgia, no caso implodidas pelo filtro moderno e posterior à modernidade, também há esse mistério.
Talvez o mais forte exemplo disso, justamente porque tem latências altas de significações prévias, é Luz nos trópicos (2020), seu filme de monumento minimalista, ao mesmo tempo explosivo na beleza das imagens e contido em seus efeitos e em seu desenvolvimento, com um trânsito temporal que poderia ser espetacular e de performance narrativa, mas antes age como movimento do tempo, da história e dos espaços.
Poucos filmes foram tão arrebatadores no cinema brasileiro do século quanto essa jornada longa e adensada jornada de retorno e de procura, com uma perspectiva metafísica antes de ser histórica, assim convertendo o close do rosto de uma mulher indígena em uma imagem de algo além e aquém do rosto, uma imagem do invisível, do que não está lá, mas irradia naquela expressão, sem jamais aceitar somente uma imagem de uma categoria étnica. Não é a indígena particular, sequer a indígena como representação, mas forças que a impregnam. Estamos diante de um filme ritual, atentos aos restos, vestígios e resíduos do tempo, aos jogos sonoros com diferentes idiomas e sotaques, ao vagar como condição mais que como circunstância.
É um filme lânguido e formalista, com os rostos às vezes nos extremos da expressividade com o mínimo de recursos, sobretudo o de Clara Choveaux, sua atriz recorrente desde Exilados do
vulcão (2013), com presença marcante também em Noite (2015), com imagens reveladoras do prazer de terem sido elaboradas, com quebras de um andamento já todo cheio de surpresas constantes, especialmente quando Clara e Arrigo Barnabé comandam sequências cantadas. Há antes momentos de desprendimento da narrativa do que de articulações dramáticas. São aditivos sensoriais que carregam a força do filme. São cortes na razão estruturante e articuladora.
Não é fácil escrever. Menos ainda sobre cinema. E ainda menos sobre uma expressão artística audiovisual como a de Paula Gaitán. A razão aparente é de largada. Suas obras são organizadas desde a premissa até a finalização como processos estimuladores de mistério, de dispersão da razão significadora, de investimento na “materialidade” da imagem (forma direta de abstração), sem fazer de cada fragmento, com maior ou menor duração, uma função para o organismo fílmico.
Se função há nas imagens, não está na orientação, na informação, na ordenação de nossa percepção. Somos convidados –é sempre um convite, não um sequestro – a viver uma experiência. A palavra está gasta, sem dúvidas, mas faz sentido. A experiência não é exatamente a do plano, a do instante e a da duração de um acontecimento, como escreve Jacques Rivette em muitos de seus textos, desde o seminal artigo “Nous ne sommes plus innocents”, de 1950, para o boletim do cineclube do Quartier Latin. É quase o contrário do que solicita Rivette, mas também é parte de sua defesa.
Porque Rivette escreve, aos 21 anos, sobre um cinema da vida, do improviso, da quebra dos esquemas de fracionamento das cenas, de uma atitude de voyeur e de testemunha, no qual o ponto de vista autoral se manifesta sem ser buscado no modo de olhar. A experiência para a qual somos convidados nas obras de Paula Gaitán é de uma outra natureza. São os artifícios menos ou mais enfáticos como artifícios que produzem essa experiência com as imagens e sons, não a vida que corre, que flui e foge na imagem,
mas o quadro, a luz, a atitude da câmera, a duração de um gesto discreto, as modificações em um rosto enquadrado em close. Nesse sentido, sendo os artifícios empenhados em desnaturalizar o que se mostra na imagem e a própria imagem, há uma descodificação, que é o exato contrário da decodificação. E a rasteira nos códigos inflacionados é uma das cruzadas de Rivette, avesso a um cinema de discurso retórico, em conformidade com fórmulas para todos os tipos de uso, com o universo destruído pelas armadilhas das convenções formais. Não é com a economia solicitada pelo crítico francês em 1950 que Paula Gaitán coloca sua resistência em tela. O caminho dela é antes das explicitações dos caminhos.
Em suma, o efeito de autenticidade, paradoxalmente tão em alta na contemporaneidade das performances pessoais e artísticas, está fora de quadro. O que importa é o efeito de construção, é uma espécie de mantra ou de meditação estética pelo qual somos estimulados a lidar com as escolhas e não apenas com o que está no interior do quadro e com o que está sendo dito. Seus filmes no fundo e na superfície carregam sinais de que um processo artístico se desenrola enquanto vemos sua versão acabada. Poucas expressões autorais acreditam tanto e ainda no cinema enquanto vivência artística como Paula Gaitán.
Publicado originalmente no Catálogo da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, dezembro de 2020.

O sono dos justos Rodrigo de Oliveira

Logo no começo de LygiaPape, vemos O ovo, obra realizada pela artista plástica carioca em 1968, posicionado dentro de uma galeria de arte. É um cubo branco mergulhado em paredes vermelhas, mas de sua materialidade podemos ver pouco. O cubo surge como um portal aberto, e através dele vemos o mar, eletronicamente colocado ali. De uma peça concretista, filmada por uma cineasta muito ligada às vanguardas dos anos 1960, tiramos o mais definitivo efeito-de-janela, tão caro ao cinema clássico narrativo: é como se, diante de O ovo, observássemos o mar sem intermediações, bastando chegar ao batente para ter a vista completa e direta do oceano. Num corte, abandonamos a transparência da tela para nos chocarmos com sua opacidade real – o cubo está agora colocado diante daquele mesmo mar, e todo o resto da imagem permite ver o quebrar das ondas, tudo menos o próprio cubo, branco inevitável, interditando a vista. A própria artista, registrada em câmera lenta, irrompe “de repente” de dentro da peça, feita de uma superfície plástica macia, e surge dali como se estivesse nascendo da tela (não à toa, o filme de Paula Gaitán trazia em suas primeiras imagens La Nouvelle Création, vídeo de Pape que mistura a chegada do homem à Lua com ruídos do nascimento de uma criança).
Sobre O ovo, Lygia Pape disse numa entrevista em 1998 que “estava interessada na possibilidade de uma obra sem autor”.
A primeira impressão de LygiaPape, o filme, caminha nesse sentido: se a obra pode prescindir da autoria, ela não pode fazer o mesmo com o objeto. Mais ainda, pede-se que o espectador se materialize em objeto dela, uma coisa só se completa com a ação da outra –não basta simplesmente existir como observador, é preciso tomar parte da construção, do efeito, sem um corpo que atravessa a tela restaria a ela só o branco que deixa ver ou esconde o que está por trás dele. Romper com a estabilidade, romper com a natureza coisificada da tela, para instalá-la na natureza plena: quando Lygia Pape atravessa a matéria branca, finalmente podemos ver o mar ao fundo, a peça passa a pertencer a um contexto que lhe é acolhedor. Os Objetos Neoconcretos que aparecem na sequência, já sem a referência da galeria de arte, mas colocados diretamente sobre a areia da praia, mostram o contracampo de O ovo. As obras, no entanto, surgem claramente introduzidas no ambiente externo: não se crê no “nascimento” delas ali, naquele espaço, as marcas dos dedos que as carregaram até ali são quase visíveis. LygiaPape, o filme, não poderia existir se não fosse a autora: é preciso ainda algum atravessador entre o museu e o mundo, alguém que reclame o direito de readequação dos objetos a uma ordem natural perdida nos séculos de história da arte, e cabe a Paula Gaitán esse papel. A natureza aqui surge como o lugar do pós-vida.
é menos, mas exatamente isto: Glauber disperso, fragmentado, e então reagrupado em torno de uma energia natural, uma árvore. O recurso será repetido em diversas locações diferentes, com variações: uma vez as fotos comporão o cenário de uma colina cheia de enormes pedras e imersa em neblina, outra vez aparecerão enterradas sob a areia do mar e, num plano, veremos a correnteza da água ir varrendo aos poucos a areia até que os olhos de Glauber se revelem, e então o sorriso, e a foto inteira se mostre ali, marítima, oceânica. Dois anos depois, veríamos também uma criança em cena, desta vez um menino negro e sem camisa, encontrar “casualmente” uma fotografia de Maria Gladys na areia de uma praia carioca, na sequência final de Vida. Diferente de LygiaPape, aqui a natureza não existe como uma idéia de paraíso proibido à penetração desses objetos de arte, o espaço onde um cubo de pano branco ou a imagem de uma pessoa possa sobreviver depois que seu trajeto realmente natural (o museu, a apreciação espectatorial tradicional) já tenha sido cumprido. O exercício de Paula Gaitán não é o da autópsia (em Diário de Sintra), da revalorização (em Vida), nem tampouco o da ressurreição.
Essa estratégia vista no média-metragem de 1991 seria repetida ainda outras vezes por Paula Gaitán. É dessa forma que primeiro teremos contato com a figura de Glauber Rocha em Diário de Sintra. Numa sequência inicial, veremos fotografias do cineasta espalhadas pelo chão de um terreno vazio, a céu aberto. Entra uma menina lisboeta em quadro, toda encapotada contra o frio, recolhendo foto por foto, para então pendurá-las numa árvore seca logo atrás de si, como se folhas desta fossem. Não é mais, nem
Em Diário de Sintra, voltar a um lugar do passado, à memória do marido morto, do amor interrompido pela morte, é um trabalho, esforço visível aos nossos olhos. É tornar presente a ausência. Fazer de Glauber o que a retórica inflamada de seus defensores menos articulados vive repetindo pelos cadernos culturais e debates de superficialidades, mas que nunca havia sido levado a cabo com tanta firmeza de princípios: aqui, Paula Gaitán nos prova, por meio de todos os artifícios possíveis, que Glauber era verdadeiramente uma força da natureza. De alguma forma, essa figura foi introduzida no museu das ilusões perdidas ao longo dos anos (basta lembrar das bizarras animações em computação gráfica que acompanham toda a duração de Glauber, o filme – Labirinto do Brasil, de Silvio Tendler, que reproduzem os corredores de um museu, onde depoimentos e trechos de filmes aparecem emoldurados nas paredes digitais e colocam o cineasta ali onde
“Só no coração do Brasil os homens são eternos”
ele nunca pediu para estar). Havia um estado original que foi alterado por uma série de tramas históricas acontecidas nos últimos 30 anos, e que colocaram Glauber lá no espaço onde O ovo nasceu e sempre esteve. Trazê-lo para fora é trazê-lo de volta, e não trazê-lo pela primeira vez.
O mesmo se dá com Maria Gladys. Um pouco antes de chegarmos à praia e ao menino que recolhe uma fotografia, veremos um momento de entrevista convencional (ainda que a atriz olhe sempre para um espelho, e nunca para sua interlocutora), onde Gladys responde a algumas questões, entre elas o que significa ser uma atriz brasileira. Vida, de uma certa forma, já nos tinha respondido esta pergunta, “com provas”: há um bloco inteiro em que as atuações de Gladys em alguns dos maiores filmes do cinema brasileiro são montadas em diálogo, uma expressão em Os fuzis respondendo a uma outra em O capitão Bandeira, um choro em Meu pé de laranja lima reagindo a um gozo em Brás Cubas, e ali estão materializadas quaisquer dúvidas que ainda se possam ter sobre a relevância da atriz no panorama das artes do país – e, no entanto, isso ainda é muito pouco. Não só porque boa parte de seus filmes esteve ligada a um momento de absoluta desconexão entre o cinema e as platéias, interditando um contato mais direto entre Gladys e aqueles a quem ela define como razão de seu trabalho, ou ainda porque o trabalho atual “seja pouco”, relegado a alguns papéis coadjuvantes em novelas e filmes de sucesso. O que parece evidente na montagem de Vida é que, em algum momento, Gladys esteve falando diretamente sobre o Brasil, diretamente sobre uma idéia de povo e para este mesmo povo – e mais, encarnou efetivamente a própria imagem dele (pensemos nos gritos de “eu tenho fome” de Copacabana mon amour, ou na tentativa de voltar ao país depois do exílio num circo paraguaio em Sem essa aranha). E, no entanto, esta imagem parece ter sido negada pelas circunstâncias, pelo tempo, pelo acúmulo de outras. O que faz uma atriz ser brasileira é, antes de tudo, o fato de que esse “fenômeno” aconteça no Brasil, na língua da realidade do
Brasil, e aparecer na areia da praia, ser admirada nas mãos de um menino, é menos uma operação de reparação histórica que uma constatação do óbvio já anunciado pela montagem entre filmes: há Maria Gladys espalhada em todo lugar, seu rosto está ali, mesmo onde já não o podemos ver mais, e basta o simples gesto de resgatá-la do meio da areia pra se perceber o lugar que ela de fato ocupa nesse espaço.
As origens disso tudo talvez estejam localizadas em Uaka, primeiro longa-metragem realizado por Paula Gaitán em 1988. O filme retrata o Kuarup, a festa em homenagem aos mortos que algumas tribos indígenas promovem no Alto Xingu. Como nas histórias que envolvem boa parte dos mitos fundadores das etnias brasileiras, também estes índios encontram sua origem na mutação de elementos da natureza em seres humanos. Se, por exemplo, aos Kraô do Tocantins o surgimento de sua nação dizia respeito à transformação de alguns “legumes que dançavam e cantavam” em pessoas, para os Kamayurás e Kalapalos do Mato Grosso tudo está ligado ao momento em que um grande pajé torna troncos de árvore em gente. Milênios depois do estabelecimento desse povo, cabe agora à celebração dos mortos um retorno à essência de árvore, com a representação dos parentes perdidos em toras de madeira que são, ao longo dos dias, enfeitadas e vestidas como se fossem os próprios mortos, revividos para a festa. É a única maneira de reconectar estes sujeitos plasmados em corpo humano a alguma idéia de transcendência, de retorno ao estado espiritual anterior à Criação, à manutenção de uma eternidade que é interrompida no momento em que se tornam humanos, finitos, falíveis. E não basta o meio árvore: é preciso que o fim também se manifeste nesta língua da realidade dos índios subidos, e assim o ritual sempre termina com o depósito dos troncos agora humanizados às águas do Xingu. Fotografias numa árvore, fotografia na praia, troncos no rio: a cada coisa seu espaço de direito. Num passo seguinte a essa estratégia, Diário de Sintra revelará de forma ainda mais direta essa disposição de Paula Gaitán em
entregar-se tão intimamente a este trabalho de
da figura de Glauber Rocha. O filme entregará aquelas mesmas fotos que vimos do cineasta a diversos moradores de Sintra, velhinhos e velhinhas que viviam na cidade quando o cineasta e a família estavam por lá, e pedirá para que estas pessoas tentem reconhecer, recordar quem era aquela pessoa das fotos, sem avisar-lhes nada. Uma senhorinha diz: “Não o reconheço, mas tenho certeza que é daqui”. Outra tem dúvidas de onde lembra do moço das fotos, mas aponta uma vila mais ao norte, fora do quadro, e diz que talvez ele seja de lá. Uma terceira, percebendo pela postura nas fotos um artista de alguma espécie, afirma ser Glauber um ator português, de cujo nome não se recorda, mas que estava ótimo em determinada novela exibida recentemente. Um dispositivo simples e que, no entanto, dá a dimensão justa daquilo que Sintra parece ter significado para Glauber e Paula: um lugar a se adotar como seu, com todo o peso de ser o último lugar onde se estará junto um do outro. “Sintra is a beautiful place to die”, é o que ouvimos o cineasta dizer num registro sonoro em off.
Percebido como parte daquela geografia, como habitante natural daquele espaço, acolhido na memória de quem nunca o conheceu como parte daquela história, Diário de Sintra então nos levará ao extremo oposto. Desta vez as mesmas fotos que acompanham todo o filme serão entregues a pessoas que de fato conviveram com Glauber e a família durante o tempo em Portugal. “Cá está, esta é uma imagem de exílio, uma imagem de refúgio, uma imagem doída”, diz um dos amigos do casal, e assim nossa assimilação daquela figura como um dos componentes da natureza de Sintra será desafiada por este não-lugar do exílio, do lugar escolhido em detrimento de um outro que não mais se podia habitar. De fato, o que Diário de Sintra propõe constantemente é um reposicionamento sentimental de Glauber na ordem do mundo e seu território é de uma vastidão apenas imaginada. Há um uso muito preciso de falas do próprio Glauber, muitas delas falando diretamente de sua proximidade da morte, da doença, dos dias de sofrimento, e por vezes
ouvimos a mesma frase ser dita em português e então repetida em inglês e espanhol, ou um discurso que se inicia em italiano e termina em francês. E, de todo modo, mesmo que habilitado para a comunicação em diversas línguas, mesmo que arduamente re-introduzido no ciclo natural daquele espaço, rememorado por aqueles que o conheceram e também por aqueles que dele nunca ouviram falar, há um signo inescapável ali.
Objeto-sombra, objeto-luz
Se antes falamos do caráter de manipulação literal que as peças de arte de LygiaPape carregavam, uma vez expostos nos ambientes externos que o filme percorre, mesmo quando dessas mãos não podíamos perceber mais que o passado de sua ação (elas lá estiveram), em Diário de Sintra esta determinação seria, aparentemente, ainda mais direta. Porque de fato somos apresentados às mãos de Paula Gaitán o tempo todo: primeiro mãos que se esfregam no contraluz de uma viagem de trem, ou ainda uma mão que alcança as cortinas de um quarto, ou a sombra desta mesma mão atravessando fotografias espalhadas no chão. Mais ainda: está ali o mesmo indício físico da presença de Paula quando estamos lidando com os moradores de Sintra a que são oferecidas imagens de Glauber Rocha. Dedos da realizadora que levam o papel fotográfico às mãos dos anônimos, e ainda assim não se pode dizer exatamente que é esta mão, é esta presença, é esta voz a verdadeira instância narradora do filme. Monsanto, curta-metragem de 2008 feito a partir de sobras dos materiais filmados por Paula Gaitán no retorno a Sintra, é muito mais claro em sua anunciação: utilizando o som direto de maneira muito mais evidente, podemos perceber que à câmera corresponde um corpo, que o caminho feito pela imagem na subida de um morro, com a trepidação da câmera e os ruídos de passos no mato em sincronia, materializa um “alguém” que não precisa nem mesmo aparecer
“re-naturalização”
fisicamente para que se saiba que ele existe – mesmo quando não há câmera na mão ou som direto, admitidos que se trata “daquela mesma pessoa”, daquele mesmo olhar de antes. Mãos em quadro, voz identificada à narração de detalhes íntimos de sua trajetória, eventualmente até surgir de costas para a câmera, isso tudo ainda não garante que Diário de Sintra esteja assim tão contaminado por essa primeira pessoa soberana e implacável.
Como na relação com Maria Gladys, este trabalho de recolocação de Glauber Rocha num espaço natural sempre surge em Diário de Sintra desta maneira: como um trabalho, como uma ação que necessita dessa intervenção física, mas que não pede para si nenhuma especialidade no gesto, nenhum elogio à inteligência desse reposicionamento, pelo contrário. As mãos, o corpo e a voz de Paula Gaitán, como os de Glauber e seus filhos pequenos nos registros em Super-8 que preenchem o filme, dos anônimos e dos amigos, comungam dessa mesma origem comum no real. E se a história de Diário de Sintra é menos a da recuperação de um tempo passado, vivido e encerrado em sua época, e mais o da re-experiência desse tempo, é porque plantar fotos em árvores ou desencavar uma imagem do quebra-mar é diz respeito tão somente à percepção de certos objetos de atenção. De fato, estes rostos de Glauber Rocha espalhados pela natureza eram apenas a parte que faltava na composição daquele quadro. Diário de Sintra é menos um filme sobre como levar um objeto a seu destino do que um filme sobre a própria configuração desse destino. Qual é a natureza da natureza? Dessa natureza habitada, mesmo que seja pelo vazio, manipulada, composta de fluxos temporais distintos e simultâneos, nunca eqüidistantes?
Uma conversa em off sobreposta a imagens do mar português nos levam a uma primeira pista. Um homem e uma mulher discutem qual seria a real cor de um outro mar, diferente daquele que vemos, o mar de Cabo Verde. Ela diz que se trata de um azul perolado, ele retruca que é um verde que vai ao azul, e não se chega a um consenso. Retorno inevitável: temos Jean-Luc Godard
se fazendo as mesmas perguntas em Lettre à Freddy Buache, curta- metragem de 1982. Um filme sobre a impossibilidade de se fazer um filme, aquele encomendado a Godard para celebrar o quinto centenário de fundação da cidade de Lausanne, na Suíça. A justificativa do francês para não cumprir o contrato é simples e ao mesmo tempo aterradora. Da cidade, ele precisaria fazer apenas três planos: um que começasse no verde das árvores para se chegar ao azul do mar, passando pelo cinza da urbanidade. Três planos, três cores, e é tudo isso o que se pode esperar de um filme – ou pelo menos dos filmes que começam a se perguntar que relação é essa que o cinema estabelece com um mundo já tão dominado pela imagem-de-si-mesmo (“as cidades são a ficção, as pessoas são a ficção”, e o documentário é impossível, “porque seria preciso pensar cientificamente”, diz Godard na banda sonora). Como os amigos em Diário de Sintra, Godard também é incapaz de denotar as cores: haverá sempre uma conotação, sempre uma interpretação a se fazer. E ecoando as palavras de Jacques Aumont ao falar do paradoxo do pintor do século XIX como o grande problema enfrentado pelos cineastas do século XX: o que mostro só existe através do olhar que lanço, mas gostaria que os outros o vissem assim, sem que tivesse de mostrá-lo. Como retomar essa sensação pré-objetal, ali onde fotos não são fotos, mas dados de um real histórico e ao mesmo tempo inventado, onde Glauber é o ator português, o cineasta brasileiro e o camponês pastor de ovelhas ao mesmo tempo, sem que para isso minhas mãos precisem apontar todas essas direções? E como fazer isso incluindo minhas mãos, meu corpo e minha voz nesse panorama?
Diário de Sintra recupera, não por acaso, um primeiro espanto relacionado ao surgimento do cinema e que, pensado nos dias de hoje, soa quase ridículo, se não fosse completamente revelador das pulsões de Paula Gaitán. O que a cineasta faz aqui é filmar o ar, filmar a luz, filmar o fenômeno atmosférico, e fazê-lo como se fosse a primeira vez de tudo isso. Se na anedota clássica em que se conta que ao assistir o Jantar do Bebê dos irmãos
Lumière, Georges Méliès disse se interessar menos pela graça da criança e pela relação cômica de seus pais que pelo vento que batia no fundo do quadro e fazia as folhas de uma árvore se mexerem, temos essa relação mágica que o cinema estabelecia com nossa percepção da realidade introduzindo, ao mesmo tempo, uma facilidade e um costume, rapidamente admitido como ordinário e nada especial, Diário de Sintra é desses filmes que tenta restabelecer um olhar inédito sobre o mundo. Ou, dada a inviabilidade dessa tarefa, um olhar inédito sobre esse mundo que nos oferece, sobre esse espaço chamado memória, sobre esse território chamado Sintra.
E se esse olhar está se propondo a uma certa inocência, é porque sabe ser impossível pedir o mesmo dos ambientes que registrará. Há ali um lastro, este ar está contaminado de passado e de futuro, e sendo o cinema a arte do presente, não lhe cabe mesmo nem a ressurreição nem a profecia – não há espaço para a saudade, diria Serge Daney, mas tão somente para seu substituto imediato, a melancolia.
Mas Diário de Sintra é repleto de uma melancolia, digamos, ativista. Retornando à casa em que vivera com o marido e os filhos, Paula Gaitán não pode ver mais que os escombros de uma residência abandonada – mas se vê o vazio, a cineasta filma o repleto. A montagem é definitiva nesse sentido: mais do que uma relação de acúmulo, o que os cortes introduzem em Diário de Sintra é a impressão visível e palpável desse tempo que parece continuar acontecendo ali dentro, mesmo muito tempo depois de passado. O equilíbrio entre as imagens em Super-8 de 1981 e as imagens digitais de 2006 produzem um presente contínuo. Filma-se o ar porque, no fim das contas, pode-se ver o que há nele.
Pode-se ver, para além do registro caseiro, o registro artístico, dramático, historicamente assentado: quando usa imagens de Cabeças cortadas, filme que Glauber Rocha rodou na vizinha Espanha em 1970, Diário de Sintra o faz ocupar o mesmo espaço de Portugal atual, como se misteriosamente um país existisse não
ao lado, mas sobre o outro: um vale filmado lá que se une ao filmado aqui, o rosto de uma cigana do passado que se funde à cigana do presente, uma estrada de terra deserta que é instantaneamente ocupada por uma procissão de pessoas trinta e cinco anos mais novas. Mais do que situar a figura de Glauber Rocha no interior desse universo, feita da mesma matéria-prima da areia ou da árvore, é na relação com sua obra, na mesma re-naturalização de seus filmes, que Diário de Sintra é definitivo. Nunca houve representação mais íntegra do que chamamos de um “imaginário do mundo”, ou talvez sim: Uaka já fizera algo parecido antes, quando ilustrava todas as lendas indígenas apresentadas ao longo de sua duração com trechos dos filmes de fantasia de Georges Méliès, como se de fato fizessem todos parte de um mesmo espírito ilusório-realista, dividissem todos uma mesma crença na potência das imagens criadas que admitimos como nossas, índios isolados no Alto Xingu ou cineastas franceses dos primórdios. E de um filme que não se contenta em simplesmente levar à superfície viva das coisas aquilo que parecia estar desconectado dela, mas que de fato cria uma superfície nova a que se habitar, uma superfície em que obra e mundo, humano e natureza dividem o centro da mesma energia, participam do mesmo tempo histórico, tem a mesma cor, a mesma textura, é preciso tentar entender a razão de tanto esforço. É o signo inescapável: houve uma morte ali. Esta não se recria, não se renova, dela não se pede cor nem som, não se pede nada. E, no entanto, o que se pode fazer na relação com esse dado é justamente cercá-lo de outro contexto, um que lhe pareça mais inteiro em sua fragmentação constitutiva. Colado a Glauber de maneira tão íntima, Diário de Sintra não poderia apenas narrar sua morte. Em duas sequências estarrecedoras, veremos primeiro o filme “respirar” junto do cineasta seu último fôlego, onde cada escurecimento da imagem é sucedido por uma nova cena, também ofegante, também fugidia, também apagada por um novo escurecimento. Então, de um tremor sonoro, surge uma imagem de Glauber filmada em Super-8, deitado
na rede, talvez o registro mais triste e pesaroso que se tenha de seus últimos dias: Glauber exausto, fatigado, com a expressão de quem está partindo. Para onde ir depois de um impacto destes? Diário de Sintra vai se apagando junto a Glauber, até desaparecer por completo.
Se abdica de uma instância narradora corporificada, tridimensional, é porque Diário de Sintra só pode existir na superfície aflorada das coisas. O próprio filme é olhar e universo, é observador e objeto. Um filme em que se declara explicitamente a posição afetiva de onde se fala (ouvimos versos como “uma viúva se parece com as árvores, um objeto-sombra”). Um filme que registra ostensivamente uma árvore invadida por fotografias pregadas em seus galhos, situação tão fora-do-normal e estranha, apenas para nos oferecer esta mesma árvore, uma hora e meia depois, despida, normal, e por isso mesmo ainda mais estranha – estamos vendo tudo pela primeira vez, mas há certas coisas que não queremos ver nunca mais. Um filme desses não poderia tomar outra atitude diante de uma partida a não ser partindo ele também. O que não quer dizer que não seja num céu incrivelmente azul e limpo, num dia claro de sol, que o último plano do filme queira repousar. O sono dos justos.
Publicado originalmente em Oliveira, Rodrigo de. Diário de Sintra: reflexões sobre o filme de Paula Gaitán. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2010.

Os limites do olhar
Fábio AndradeÉ bastante claro como os filmes mais interessantes exibidos na 12ª Mostra de Tiradentes polarizam, mesmo quando inconscientemente, dois caminhos bastante definidos para o cinema. De um lado, temos filmes realizados com extrema consciência de sua linguagem, mas que tentam minimizá-la, esperando que, com isso, revelem um mundo transparente e dotado de luz própria (caso de A casa de Sandro, As Iracemas e Acácio); de outro, filmes movidos pelo desejo de significar, de pensar o cinema não como registro, mas como construção de discursos, usando suas ferramentas para construir um sentido que lhes é exterior (caso mais exemplar de A fuga da mulher gorila). É a essa segunda corrente que Vida, de Paula Gaitán, parece mais se aproximar, pois ele é um filme sobre a mediação do olhar. Logo entre os primeiros planos, a câmera é colocada frontalmente a uma janela aberta. Diante dela, uma cortina de tecido fino, colorido e esvoaçante, balança ao vento. Sem a mediação desse tecido, o mundo lá fora aparece completamente estourado, indefinido, mergulhado em um branco violento que aniquila a distinção de tudo que esteja fora de seu recorte. Mas o vento se amansa, e a cortina passa em frente à janela. Nesses breves instantes, vemos, através da cortina, uma outra janela. Como um filtro, o tecido, colorido e adornado, translucida algo que o simples enquadramento não nos permite ver. Vida (2008)

A pureza do olhar não é construtiva, pois o olhar indistinto não revela, no cinema, aquilo que o realizador enxerga tão claramente diante de si. O cinema tem seus limites técnicos, e é preciso levá-los em consideração no trato com o aparato, para que os limites deixem de ser limitações e se tornem ferramentas. Não basta usar uma janela para enquadrar outra janela, pois usar o cinema para filmar o próprio cinema é, ao fim e ao cabo, uma redundância. É preciso colorir e adornar esse mundo para que, através desse filtro diferenciador, o cinema revele algo. Não basta, portanto, olhar para Maria Gladys. Para compreendermos a Maria Gladys que Paula Gaitán deseja nos mostrar, é preciso colocar algo entre a personagem e a câmera.
Esse procedimento é central em Vida, pois Paula Gaitán não quer apenas que conheçamos Gladys, mas sim que participemos desse encontro de olhares. Esse encontro, porém, precisa que os dois olhares se ativem: Gladys constrói o filme, ao mesmo tempo em que é construída por ele. Em um primeiro momento, a atriz aparece para a câmera de forma bastante protocolar; à medida que o relacionamento entre corpo e câmera avança, as camadas começam a se sobrepor, e os julgamentos mútuos interpelam a imagem. Gladys fala com a câmera por meio de um espelho; aparece refletida em superfícies que deformam sua imagem; é coberta pelo tecido que, naquele primeiro plano descrito, interferia no olhar. Ela declama textos para a câmera, em re-takes sucessivos que – ao contrário do esvaziamento expresso no mesmo recurso em Santiago, de João Moreira Salles – tornam mais complexa a fala, mostrando a quantidade de caminhos que a atriz percebe em cada sílaba, em cada fonema. Vida é um filme sobre a deformação, pois tudo é matéria bruta a ser moldada. Exatamente por isso, Paula Gaitán precisa evidenciar, visualmente, as camadas dessa construção – nem que seja devolvendo, às ferramentas de construção, seus sentidos literais. Daí a expressividade estonteante do uso daquele mesmo tecido para fazer transições “em cortina” entre dois planos – recurso cinematográfico antiqüíssimo que, restituído de seu sentido inicial,
volta a atenção do espectador para a palpabilidade de sua natureza. Torna diegético o não-diegético.
Vida é, sim, o registro da relação de sedução e afastamento entre câmera e personagem, mas a relação é plena, pois o mostrar não é apenas revelar, mas também se deixar ser vista, e se deixar contaminar pelo olhar do outro. No plano mais deslumbrante do filme, vemos Maria Gladys dançando com a filha, em um cabaré. A câmera, distante em um primeiro momento, aos poucos ganha ritmo, entrando no ritmo da dança e se aproximando das personagens. Até que Maria Gladys caminha até à sacada; seguimos a atriz que, ao sair pela porta, some em um véu de superexposição. De repente, ela ressurge do branco transformada, caminhando em direção à câmera com um olhar confrontador, fazendo com que ela retorne o caminho percorrido até aquele momento.
Não se arranca intimidade à força; se estabelecemos uma relação com Maria Gladys, é por ela desejar, também, que isso aconteça. Para olharmos para ela, é vital que ela queira se mostrar. Não vemos uma pessoa como ela é, pois ela tem, também, controle sobre a maneira como ela quer se mostrar – e isso, aliás, é o que realmente interessa. Isso fica claro quando, cantando “Emoções”, de Roberto Carlos, Maria Gladys muda a letra para “se chorei, ou se sofri”. Chorar não é sofrer, e desvios sutis e essenciais como esse fazem de Vida não um retrato, mas um mosaico rico e cheio de vida dessas pequenas deformações; desses monumentais gestos artísticos. Ao fim, voltamos à janela ensolarada, onde a cortina segue balançando ao vento. Com uma correção de diafragma, a câmera sub-expõe o ambiente onde ela está para, com isso, poder enxergar a janela que se perdia na claridade. Após aquele embate incessante de olhares, conseguimos, enfim, enxergar parte do mundo de Maria Gladys. Pela exacerbação de seu próprio filtro, Paula Gaitán nos conduz, enfim, a olharmos para o mundo pelos olhos de Maria Gladys.
Todas essas imagens em que sou estrangeira
Victor Guimarães
“O que faz sentido não é assinalável em um lugar, substancial e definitivo; o que faz sentido é a mobilidade mesma, a potência de deslocamento dos signos sobre o vazio.”
Marie-José MondzainA tela escura e uma voz feminina nos conta de um diário encontrado no incêndio. Em seus últimos escritos, o autor daquelas linhas já se limitava a convocar trechos de outras vozes, pertencentes a outras vidas. O que essa mulher lê – e que encerra essa espécie de prólogo – é um diálogo retirado de O estrangeiro, de Albert Camus. Nele, alguém pergunta sobre como o interlocutor gostaria que fosse uma outra vida possível, ao que este responde algo como: “uma vida em que eu pudesse me lembrar desta aqui”. Exilados do vulcão (2013) retomará alguns dos leitmotivs da carreira de Paula Gaitán, presentes em filmes como Diário de Sintra (2007) ou Vida (2008) – a relação com a memória; a conjuração das fotografias; a força dos poemas –, mas o gesto desse filme singular consistirá em inaugurar uma sensibilidade, em produzir um modo radicalmente distinto de articular esses elementos e, nesse movimento, engendrar um outro espectador.
Em um primeiro contato, a tarefa de decifrar os enigmas dessa narrativa é fadada ao fracasso. Resta então, ao gesto crítico, acompanhar algumas das operações estéticas do filme, no desejo
de produzir, quiçá, um provisório testemunho espectatorial. “Experimente, não interprete jamais”, dizia o conselho de Deleuze retomado como “fórmula irrevogável” por Nicole Brenez em “De la figure en general et du corps en particulier”. Diante de um filme como este, visto uma única vez, assumir essa demanda crítica não é apenas um desejo consciente, mas o único gesto possível. Ao final do percurso, talvez seja possível oferecer ao leitor um primeiro relato, uma primeira tentativa de dar conta da experiência de ver –e ouvir – essa matéria estética, algo como um diário de espectador. Findo o prólogo, o que veremos durante toda a projeção é um fluxo ininterrupto de imagens e sons, cuja potência autônoma – e também as conexões que se produzem na fricção entre uma e outra – ainda precisará ser medida com calma, um dia. À primeira vista, Exilados do vulcão surpreende – se pensamos nos outros filmes da realizadora – por ensaiar um gesto marcadamente ficcional, que parte de uma proposição dramatúrgica: uma mulher (Clara Choveaux), atravessada pelo trabalho do luto, rememora (ou imagina, ou participa, ou tanto faz) a vida (ou as vidas) de seu amante (Vincenzo Amato), um fotógrafo que está sempre em companhia de outros personagens (principalmente de outras mulheres). Nesse percurso – que é também o do filme –, as figuras dramáticas aparecem e desaparecem como espectros de carne e beleza, em uma construção ao mesmo tempo etérea e profundamente física. Exilados do vulcão é um filme de corpos no espaço; uma narrativa cinematográfica que, se parte de uma verve imaginativa, nunca deixará de se assentar na materialidade dos gestos e dos lugares.
A montagem tem diante de si uma tarefa das mais arriscadas: como não há linearidade dramática, como não há causa e efeito que concatenar, sua operação terá sempre de se constituir como um gesto puramente estético, um movimento de constante conquista e reconquista do espectador, tendo como única arma possível as imagens e os sons. Como em O intruso, de Claire Denis, ou nos filmes – especialmente os curtas – de Apichatpong Weerasethakul, a montagem parece partir da existência fílmica dos
planos, não para produzir significados, mas para engendrar modulações. Nas andanças da protagonista pelos espaços abertos, nos encontros entre o amante e suas mulheres; nas poses diante da câmera, nas cores de uma fotografia arrebatadora, no jogo de não-coincidência entre o movimento do quadro e o dos corpos, no nascimento de uma lágrima que surge no rosto, a escritura reconhece uma força e a faz vibrar em nós.
Mesmo que o que vejamos em cena seja um espaço vazio, um plano quase nunca é esvaziado da presença humana, uma paisagem quase nunca é um objeto de contemplação. Nos raros momentos em que o filme esbarra nesse gesto mais distanciado (como no plano da teia de aranha que se entranha na cerca de arame), a intensidade das imagens é ameaçada pela auto-suficiência, mas a montagem logo retoma o gesto que faz de cada corpo, de cada lugar um espaço povoado de afetos (no sentido deleuziano). Ainda que a significação dessa afetividade permaneça um enigma para a busca (certamente improdutiva) de um sentido último, o que importa é que o olhar que faz existir essas imagens é sempre um olhar implicado, e está sempre em questão: um afeto fílmico não é algo explicável pela ordem da psicologia, mas uma existência plástica que dispara nossa sensibilidade. A presença de alguns dos poemas – nos momentos em que o filme considera que estes são significativos a ponto de legendá-los –também nos distancia brevemente, pois nos obriga a um gesto de conjugação entre texto e imagens que faz com que estas percam, por um instante, a multiplicidade de sentidos que reside em sua autonomia. O filme é sempre maior quando não há uma mediação dessa natureza, e a montagem é sábia o bastante para reduzir esses instantes ao mínimo e retomar, logo em seguida, o fluxo sensorial que nos arrebatava.
A figura decisiva do filme é a da mutação ininterrupta: mudam os lugares, mudam os corpos em cena, mas muda também a enunciação, a perspectiva do olhar que os faz existir. Trata-se de uma escritura estrangeira, de um olhar que, se parte das projeções da
personagem de Clara Choveaux, nunca será puramente subjetivo. Por vezes, é a ela que a câmera se dedica, como no inesquecível plano em que seu corpo nu é atravessado pelas luzes do quarto, da cidade que entrevemos pela vidraça e, por fim, por uma outra imagem que incide sobre sua pele. Noutros momentos, uma cena entre o homem e outra mulher será interceptada por sua presença, em um jogo de substituições que tem seu ápice na sequência do laboratório de revelação, povoado por um vermelho intenso e pela canção pop na voz de Karen O, que surge na trilha sonora para fazer o filme renascer uma vez mais. Entre a música que atravessa os ouvidos e as imagens que enchem a tela, é o cinema que é convidado a dançar uma vez mais.
Trata-se de uma canção do exílio, de um canto – decididamente feminino – dedicado a esses corpos e a esses espaços por uma escritura variante, múltipla, dilacerada, em contínua reinvenção de si. Exilados do vulcão faz do movimento uma dança entre o olho da câmera e a densidade do espaço; do corpo, um poema em língua desconhecida; do deslocamento, uma errância alegre do sentido; da sala de cinema, um lugar em que todos nós somos docemente obrigados à poderosa tarefa de nos dedicarmos, plano a plano, a ser estrangeiros(as) de nós mesmos.

Rascunhos ruidosos: o cinema de Paula Gaitán
Ana Júlia Silvino“O ouvido não tem preferência particular por um ‘ponto de vista’. Nós somos envolvidos pelo som. Este forma uma rede sem costuras em torno de nós. Costumamos dizer: ‘A música encherá o ar.’
Nunca dizemos: ‘A música encherá um segmento particular do ar.”
 Marshall McLuhan
Marshall McLuhan
No cinema, há uma relação entre som e imagem que é naturalizada. Essa convenção prevê que a coexistência dessas duas linguagens – como elementos que se acompanham – depende da atividade espectatorial. Ou seja, nós, dimensionadas pela própria experiência de visionamento, construímos todas as relações entre som e imagem nos filmes. No entanto, há uma disparidade entre a visão e a Audiovisão1, quando penso na autonomia da espectadora de interceder no embate entre seu próprio corpo e os filmes. Esse quadro envolve ambiguidades e imprecisões que me parecem ter raízes na própria evidência visual na tela do cinema
que, inevitavelmente, é mediada pelo olhar de quem assiste. O visível está sempre em disputa com o invisível, uma vez que podemos fechar os olhos e escolher quais imagens queremos ver. Contudo, o som não pode ser mediado pelos ouvidos de quem escuta, não podemos nos fechar para as sonoridades – tão pouco para os ruídos. Talvez, a desconfiança no ouvido (é bíblico que é preciso “ver para crer”) aconteça em função de não possuirmos pálpebras sonoras2. Então, como suscitar imagens pelo som e reconstruir imageticamente a experiência não mediada das densidades sonoras que não se obstruem entre si, mas que estão em choque constante com o corpo de quem vê e escuta?
Quiçá, a filmografia de Paula Gaitán, uma das cineastas mais originais do nosso tempo, possa ser um caminho possível para responder essas perguntas. Em suas produções mais recentes, Paula assume a impossibilidade da mediação corpórea do som – ou, em outras palavras, o fato de não termos autonomia sobre o que podemos ou não ouvir – como método. Pela inquietude de seu próprio corpo-câmera, traduz as modulações dos sons, silêncios e ruídos para as texturas da imagem. Em Noite (2015) e Sutis interferências (2016), a associação livre entre as técnicas do cinema e o caráter inexorável (ou implacável) da música são exemplos de sua artesania. Nesse caso, só ver não é o suficiente, precisamos nos abrir para a escuta.
primeiros dois minutos e trinta e seis segundos não há experiência visual, apenas sonoridades. Em vista disso, a paisagem sonora é pensada antes da imagem e também é o que vai delimitar, posteriormente, o ritmo visual. Na primeira cena, onde têm-se uma tela exibindo 2001: uma odisséia no espaço (1968), filme dirigido por Stanley Kubrick, percebemos que a câmera estabelece um jogo de relações simultâneas: Paula filma telas que exibem outros filmes, outras cenas, outros shows, outras performances… e constrói texturas que brincam com a qualidade plástica da imagem. Vários elementos visuais coexistem para construir um ritmo, assim como a reverberação sonora que introduz a narrativa fílmica. De certo modo, Paula assume os ruídos das imagens para nos auxiliar a ver o que ouvimos.
No silêncio absoluto da imagem (a tela preta), o som se manifesta através de repetições obsessivas e ritmadas. Logo de início, a construção narrativa de Noite (2015) indica o esforço da realizadora em criar cadências, impor ritmos e ressonâncias. Nos
Bullerengue, música eletrônica, rock progressivo, jazz e MPB são alguns exemplos dos muitos ritmos articulados no filme. No desenho de som de Noite, a modulação para outros tons se dá pelos ruídos, uma vez que o que liga uma música a outra são barulhos incômodos e desarticulados das frequências convencionais da música. O interessante é que na imagem também é criada uma outra espécie de ruído que serve como fio condutor de uma variedade de texturas visuais e sonoras: a personagem de Clara Choveaux. Na primeira cena em que aparece, Clara está sozinha no plano, iluminada por luzes coloridas de tons quentes. Ela fuma um cigarro e percorre o olhar para o nada que lhe cerca. Por vezes, parece estar ouvindo a voz impotente de Petrona Martinez, numa canção em extracampo. De algum modo, a música opera uma colisão com o corpo da personagem, que sorri como se pudesse ouvir o que estamos ouvindo. Clara se movimenta. É como se quisesse dançar. Entretanto, o choque do corpo com aquele som que está aquém da imagem, leva, novamente, à tela preta: uma sobrecarga de frequências sonoro-visuais. Da sobrecarga nasce a desorganização, o ruído.
Essa presença feminina é ruidosa em muitos níveis. Imageticamente, por exemplo, esse ruído é trabalhado por texturas. Em
algumas cenas, Clara é filmada através de um tecido esvoaçante, ou está vestida com um figurino que destoa das outras pessoas nas festas. No entanto, no decorrer daqueles recortes da vida noturna carioca, vai deixando de ser esse corpo desarticulado e torna-se parte dos espaços. É como se o nosso corpo, como espectadoras, fosse se acostumando com os ruídos, as vibrações desordenadas. A mesma coisa acontece com o ruído sonoro. No início do filme os ruídos são extremamente desagradáveis aos ouvidos, mas, depois, conforme vamos nos acostumando com essa manifestação sonora, tornam-se apenas sons. Dessa forma, a impossibilidade da mediação corpórea das densidades sonoras é traduzida para a imagem e, assim, é criada uma fruição de visionamento que não se limita às possibilidades da imagem e do som como elemento que existiria para acompanhar essa imagem. Há um choque de frequências polissêmicas entre o ver e o ouvir que não só suscita cenas experimentais, mas também questiona a ideia de ruído visível.
“músicas melancólicas começam a tocar, as bordas começam a desafiar o centro do pensamento, isso significa medo?”
Jota Mombaça e Musa Michelle Mattiuzzi3
III
Em Sutis interferências, a dissonância rítmica é construída a partir de justaposições; entre a cineasta e o músico; entre a câmera e a guitarra; entre o som e o que se diz sobre o som. Sinto que o ruído é algo a ser decifrado na imagem. Uma tensão entre dois
3 Ferreira da Silva, Denise. A dívida impagável. São Paulo: Casa do Povo, 2019. (Prefácio: Carta à leitora preta do fim dos tempos de Jota Mombaça e Musa Michelle Mattiuzzi).
ritmos distintos, dois modos de produção. A relação entre Arto Lindsay e Paula Gaitán se dá pela impossibilidade do diálogo. “Não entendi muito bem”, responde Arto em uma conversa com a realizadora. Nesse sentido, a obra se diferencia, por exemplo, de É rocha e rio, Negro Leo (2020), em que a voz é o som principal –como um instrumento solista – e as ideias faladas estabelecem a lógica de encadeamento da narrativa.
Já em Sutis interferências, Paula abre mão do verbocentrismo 4 e assume o ruído como som fundamental, diferente de como acontece majoritariamente no cinema em que o ruído é apenas um acompanhamento. São múltiplos ruídos: o ruído sonoro, o da iluminação que intervém nas cenas – e que ora produz sombra, ora embeleza os instrumentos – e as interferências de montagem que sobrepõem uma fala à outra. Materializando, assim, a desorganização do ruído na imagem. Relações simultâneas que convocam a atenção da espectadora e que conectam os dois processos de criação: o do músico e o da cineasta.
Assim como em Noite, o começo do filme é o som se materializando no silêncio absoluto da imagem. São conversas fugazes sobre o processo do documentário, desde a provocação de Paula de não pretender fazer perguntas convencionais ao músico ou o diálogo sobre o ar condicionado que precisa ser desligado para que não haja ruídos na captação sonora. De certo modo, há uma preocupação em evidenciar os processos, as modulações dos sons acidentais. Apesar dessa primeira cena do filme ser uma conversa clássica motivada pela voz, o restante dos diálogos presentes na obra foram materializados formalmente nas técnicas do cinema e da música. O método retratista de Gaitán trabalha as intensidades e rejeita a transparência, escolhe vibrações como instrumento
4 Expressão utilizada por Michel Chion no livro A audiovisão (2011). O termo refere-se ao favorecimento da voz, em relação aos outros sons, no cinema e a busca por uma inteligibilidade clara das palavras enunciadas por essa voz.
de visionamento. Paula filma através de recortes: meia face, um par de óculos, uma mão que entra em atrito com a guitarra e também assume o assincronismo da imagem e do som como método. Em algumas cenas, na imagem compreendemos que Arto está falando, mas o som que aparece em off não é o da voz, e sim de alguma música. O que se ouve está em conflito com o que se vê. Diferentes ambiências localizam o processo criativo de Arto – e o de Paula. Nas filmagens dos concertos, sons e imagens oscilam no plano e podemos perceber que os ruídos são proposições nas duas criações. Trata-se de um trabalho manual de busca incessante por frequências, para depois articulá-las em energia. Em uma das cenas finais do filme, Paula interpela o método tradicional de entrevista no cinema e evoca sua radicalidade nas sonoridades. Enquanto ela, em extracampo, e Arto no centro do plano, conversam, a montagem sobrepõe as falas do músico e cria uma combinação sonora que remete às operações simultâneas da música. No entanto, quando Arto fala sobre o ruído, a sincronia de seu corpo com a voz retorna. Em outras cenas, ao mesmo tempo em que a voz de Arto opera em off, seu rosto está em silêncio. É um jogo que também interfere nas relações do corpo com o som, uma vez que exige certa autonomia de quem escuta em perceber as múltiplas camadas sonoras. Esse gesto evidencia a preocupação em retratar o choque do som com os corpos por construções estéticas ásperas, perceptíveis.
a música de forma apaziguada, é justamente na recusa pelo apaziguamento que encontra saída no experimental. De certa maneira, Paula rejeita a construção narrativa canônica do cinema para evidenciar que tudo é construído mediante um acordo – do visível, mas, principalmente, do audível – entre a obra e a espectadora. É bruta, impiedosa e exorbitante a cada timbre, cada frame, cada movimento de câmera.
A sensibilidade em Noite e Sutis interferências não parte de uma colocação pessoal ou do valor coletivo que a vivência individual feminina poderia ter. Na realidade, também rejeita esses rótulos e escolhe narrar pelo que ainda não foi assimilado a ponto de se tornar outro tipo de ordem. São os ruídos: uma personagem que é mais presença que personagem, os corpos em contraste com as luzes artificiais, a montagem guiada pelos frenesis das batidas sonoras e o cansaço do corpo como proposição. Quando as operações sonoras suscitam imagens, são criadas múltiplas cadências capazes de construir uma polissemia visual e outros sons que são construídos como fruto dessa associação. Texturas, jogos de luz e sombra e personagens desarticulados do próprio tempo também são ritmos construídos. Paula se afasta da narrativa clássica para fabular pelos ruídos, nos convidando a ouvir os seus filmes e a vibrar com eles. São obras atmosféricas que lançam uma proposição para a própria lógica da espectatorialidade: a brutalidade sonora nos instiga a manter as pálpebras bem abertas.
Publicado originalmente em Verberenas, vol. 7, nº 7, 2021.
A radicalidade do cinema de Paula Gaitán se dá pela manipulação do som como modulação que evoca imagens. A inventividade própria e a busca pelo inexplorável se materializa em um groove. É possível pensar o que se vê a partir do que se escuta. E sentir o ímpeto que nasce dessa relação. O cinema de Gaitán não se encaixa em um imaginário em que as mulheres se relacionam com
Sutis interferências e um “rosto quase seu”
Francisco MiguezSutis interferências faz parte dos retratos filmados que Paula Gaitán produziu nos últimos anos, em uma inflexão nos seus modos de produção, na qual passou ela própria a operar a captação de imagem e som, montar e fazer o desenho sonoro de alguns de seus filmes. Como Ostinato (2021), com Arrigo Barnabé e É rocha e rio (2020) com Negro Leo, Paula Gaitán faz o filme junto aos músicos, trança conversas sobre essa “vontade de mexer com o ar” e experimenta com estruturas musicais e traduções entre linguagens. No escuro da imagem de Sutis interferências , ouvimos Arto Lindsay dizer que não quis trazer a guitarra, e então Gaitán lhe lança palavras, ao invés de perguntas. Ela diz que fala demais, Lindsay diz que está começando a notar isso, se desafinam cada um com sua ironia. Vemos algumas não tão sutis interferências de montagem: o som de fala sem imagem, o rosto que fala sem som, citações, refilmagens e alterações de velocidade.
A palavra é trabalhada também como ruído. Paula e Arto são duas figuras estrangeiras, o português não é sua língua materna. Eles se comunicam aos trancos, ele com um senso de humor felino, ela com vários giros em sua fala. Paula fala mais do que o senso comum do entrevistador documentarista indica e não suprime sua prolixidade na montagem, incluindo o trecho em que ri de si própria por falar demais. Fala sobre silêncio, enquanto fala sem
 ← Paula Gaitán durante as filmagens de Noite (2014)
← Paula Gaitán durante as filmagens de Noite (2014)
parar. Na medida em que se expõe dentro do filme, deixa o entrevistado em silêncio, em estado de escuta, em alerta ou dispersão, ansioso ou entediado.
Depois de trinta minutos de performance e ruidagem de Lindsay, voltamos à entrevista. A mão da montagem de Gaitán então sobrepõe duas vozes do músico respondendo à pergunta “por que música?”. A dobra da voz desencontra, preenche as pausas, cruza os assuntos, confunde a atenção. Tira da palavra seus sentidos e a torna som. A boca e a voz de Arto se encontram em sincronia finalmente, a quase uma hora de filme, quando Paula lhe lança a palavra “ruído”. A polifonia cessa, uma nota longa preenche o silêncio. “O ruído é parte do som que ainda estamos aprendendo a organizar”.
Sutis interferências faz experimentos com a voz e o ruído, na sua violência e no seu prazer. “Atravessar o furacão”, diz Paula, e chegar no olho dele, no prazer em meio a violência, do volume alto que junta a música de vanguarda com trio elétrico. O desalinho entre a pista de imagem e a de som funciona como procedimento musical, dispondo os elementos em composição, como contrapontos, simultaneidades e repetições. Ela filma a tela e fraciona a imagem em movimento, cria as “imagens mentais” que tenta explicar a Arto mas que ele “não entende muito bem”; faz a sinfonia submersa, subliminar, de imagens e sons, de onde brotam as pontinhas e ilhotas visíveis e audíveis. A montagem repete o plano da entrevista que ouvimos aos pedaços e fora de ordem anteriormente, em um tipo de estrutura que também lembra procedimentos musicais. Ela primeiro pontua fragmentos desunidos como vozes dispersas, experimenta com a ordem das peças, para depois introduzir o plano na integralidade, no encontro entre elementos. Como se desmembrasse seu material em vários pedacinhos e fizesse uma colagem, para retomá-los em sincronia, como temas de uma sinfonia. A partir dessa percepção de todo, reelabora algo sobre toda a estrutura, e reorienta o encadeamento do que é dito. Paula Gaitán experimenta
em seus retratos uma troca falada, ao colocar a si em conversa e o entrevistado em escuta. Mas também, se lança a traduções formais através de seu diálogo de montagem com a obra do retratado. Há aí um deslocamento da lógica do relato biográfico que não supõe a extração integral, transparente, “definitiva” do retratado e de sua obra, mas de uma lógica do fragmento mediada pelo manuseio de Paula, da mão que “mexe com o ar” como no plano final, do encontro não apenas do “aqui e agora” da filmagem, mas como um trabalho de segunda mão sobre o trabalho do outro, e – como lembrou Juliano Gomes com a música Alviverde – lhe presenteando com “um rosto quase seu“.
Mergulhar nas brechas da opacidade
Luan SantosA cartela que inicia o filme termina com a seguinte frase: “A tarefa do político é precisamente permitir a essa voz de ressoar no espaço público”. As palavras são de La Convocation, de Federico Nicolao, Federico Ferrari e Tomás Maia. Findo o texto, ouvimos uma voz do que parece uma funcionária de aeroporto dando um comunicado; uma canção em inglês sobre tristeza; uma mulher praguejando a palavra “cachorro”. Sons urbanos e humanos se agitam no interior do filme enquanto tento tatear alguma cartografia que me permita passear por cada som, recriar cada situação, ambiente e corpos de quem fala e canta. Tal dissecação é impossível, pois alguns sons podem ser ouvidos mais nitidamente, enquanto outros são ruídos indecifráveis diluídos no conjunto. Abdico da ideia de buscar um caminho único e adentro na espiralidade de ser levado pelas vozes.
A oralidade, em suas infinitas possibilidades de criar, destruir e refundar mundos, para fazer ressoar seus signos nos sujeitos e nos tempos, precisa ser ouvida, internalizada e refletida pelos que ouvem – não passivamente, pois ouvir também é confronto. A voz é política e quem fala (e pode ser ouvido) conjura implicações sociais que constroem narrativas sobre os “outros”, sujeitos que constantemente são impossibilitados de serem ouvidos. Subtraindo a imagem física – o quê e quem se filma – para mergulhar no

universo político das vozes que ecoam ruidosas e múltiplas, Ópera dos cachorros (2020) de Paula Gaitán reúne um amontoado de sons que se atritam em uma narrativa experimental, que conduz a instauração de uma ópera cacofônica de vozes e ruídos.
A experiência se articula enquanto uma ópera que remonta ruídos e cantos como instrumentos musicais que interagem pela dissonância, como um embate pelo anseio de serem ouvidos. Diversos idiomas – português, francês, espanhol, idiomas inventados para o filme… –, são emaranhados numa cadeia que desmaterializa o corpo. Quem canta e por que canta não é o interesse do filme, mas sim criar um espaço fílmico onde essas vozes possam ressoar. Tal ato político – possibilitar um lugar de escuta – é (também) um ato estético que elabora um lugar possível de experimentação em que vozes dissonantes interajam em seu interior, em diálogos amistosos ou combativos.
Com exceção dos planos iniciais que contêm citações de La Convocation sobre a importância da voz enquanto ato político, o filme se desfaz da imagem experimentando o som como potência que instaura um mundo caótico, povoado de vozes e discursos. A costura da montagem articula a sensorialidade dos fragmentos como construção estética invocada pelos sentidos auditivos. Uma voz anuncia o apocalipse enquanto canta palavras não compreendidas por mim. Palavras são recortadas e se misturam com outras frases, línguas e cantos formando densas camadas sonoras em que percorremos os fragmentos sem cartografia, um mergulho na opacidade. O embate entre as vozes se anuncia desde o título. Ópera dos cachorros, de antemão, propicia a visualidade de um confronto sonoro em que sons tentam se sobrepor uns sobre os outros, criando uma melodia cacofônica que não permite a distinção entre seus elementos.
Sabotando a possibilidade de síntese, Paula Gaitán é provocativa no procedimento que cria, costurando uma experiência fílmica que é elaborada pela opacidade, pela porosidade que desarticula a lógica da compreensão para nos fazer imergir no
estado de fruição ao ouvir essas vozes como um conjunto, uma ópera dissonante. A opacidade, contrariando a lógica da transparência, não possibilita uma redutibilidade para a compreensão e se abre para uma fruição pelas brechas da materialidade fílmica. O choque dos fragmentos sonoros nos conduz por um caos de reverberações sensoriais, como uma música em que podemos reparar em cada instrumento e, simultaneamente, no conjunto.
A experimentação fílmica constrói momentos de uma poética musical preciosa, como quando uma voz canta lindamente enquanto uma mulher profere frases políticas densas (em francês), formando uma camada melódica em que a leveza da canção e a densidade do discurso coabitam o mesmo cosmos. O embate entre as texturas sonoras – vozes, timbres, tons, idiomas – nem sempre é, em si, conflituoso, sendo por vezes um diálogo que se dá pelo desarranjo, uma criação harmônica pela diferença.
Ópera dos cachorros é uma experimentação instigante sobre construção sonora – os diversos sons foram criados por Paula Gaitán com participação especial de Maíra Senise – e as possibilidades infinitas de construção estética e política através do som. As texturas sonoras reverberam como uma música em que não entendemos a letra, mas a sonoridade nos provoca a imersão.
Publicado originalmente em Revista Cinética, fevereiro de 2021.
A palavra se torna melodia
 Bruno Carmelo
Bruno Carmelo
É rocha e rio, Negro Leo (2020) constitui um projeto particular dentro da carreira da cineasta Paula Gaitán. Acostumada ao discurso progressista e bastante eloquente do músico e sociólogo Leo, seu genro, a diretora decidiu gravar uma longa conversa com o artista durante um único dia, em sua casa.
Assim, Negro Leo discute política brasileira, evolução musical, religião, drogas, redes sociais e muitos outros temas, enquanto narra sua própria trajetória artística e intelectual. Ao longo de mais de 2h30, a cineasta alterna as longas conversas informais com improvisos musicais. Leia a nossa crítica. O Papo de Cinema conversou com a cineasta a respeito deste projeto, exibido dentro na Mostra Olhos Livres da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
Bruno: Em que medida existia um roteiro prévio para o filme?
Paula: Existia mais um argumento, na verdade, relativo a questões ligadas à resistência. Isso veio da minha primeira conversa com o Leo. Muitos assuntos importantes estavam acontecendo: o filme foi feito no começo de 2019, e existiam diversas pautas em paralelo.
Como eu já tinha uma convivência familiar com o Leo, eu já o via apontando para algumas questões essenciais. Eu apaguei na montagem a maioria das minhas perguntas a ele, porque seria interessante não ficar muito jornalístico, muito comandado por mim. Mesmo assim, eu apontava algumas questões para ele tecer um pensamento. Eu apareço mais trabalhando aspectos da câmera. Eu nem precisaria dar muitos direcionamentos, porque isso é inato do Leo: a fala muito rica, sofisticada e precisa ao abordar a literatura, a arte. Ele possui uma cultura importante. O Leo me surpreende, falando com frequência sobre livros e filmes aos quais eu nunca tive acesso. A partir disso, escrevi uma série de perguntas, que se tornaram uma espécie de roteiro. A ideia deste roteiro se encontra na escritura da montagem. Eu tenho um material filmado que nunca chegou a se tornar obra. Por exemplo, fui a Nova York, onde gravei pessoas que me interessam. Estou finalizando um projeto com Ken Jacobs, e tenho filmado diversos músicos. Penso muito no fato que o Leo, além de ser compositor, é poeta, músico e faz performance. Isso me interessava até sonoramente: no filme, ele toca menos do que fala. A palavra se torna melodia. É a questão do cinema-poesia: o texto dito já é poesia, o enunciado já é político. O Pasolini e o Godard têm muitos exemplos sobre isso. Mas isso nunca tinha acontecido comigo, ao vivo, na minha frente. Percebi enquanto eu filmava: eu nunca o tinha visto com tamanha fluidez, numa velocidade de raciocínio impressionante. Filmei quase cinco horas em plano-sequência sem pausa para café, sem água, num fluxo constante. Quanto ao movimento da câmera, eu percebi como seria a escrita do filme conforme dizia ao Lucas [Barbi, diretor de fotografia] para continuar por um caminho ou outro. O roteiro se torna uma conjunção de coisas. Em geral, eu escrevo meus roteiros, mas durante as filmagens, eles se tornam algo diferente. O roteiro é uma peça básica de investigação. No caso deste documentário, eu tinha muitas anotações do Pierre Clastres, que me interessam muito. O Leo é sociólogo, e me ajudou muito com o texto do meu novo filme, Luz nos trópicos (2020). Por isso, já tinha a intenção de temas a abordar.
Bruno: O Léo não é apenas um objeto de estudo, ele se torna cocriador da obra.
Paula: Com certeza. Eu acredito que ele deveria ter assinado o filme comigo, mas ele não quis. O Leo não quer ficar com as críticas ao diretor, ele acha que isso é terreno meu, eu que me resolva! Quando eu falo da écriture zero, eu tento colocar cortes muito finos e intervir o menos possível. Eu filmei coisas demais com ele ao longo de dez anos de apresentações. Eu poderia cortar a imagem entre ele e os shows. Talvez o resultado ficasse mais ameno para o espectador, como nesses retratos mais ilustrativos. Mas decidi apenas usar o material obtido em um único dia, em ordem praticamente cronológica. É quase um único plano-sequência, com poucos cortes. Não foi por preguiça, porque já tenho o Leo no Lincoln Center, em Nova York, fazendo uma performance impressionante sobre a Bíblia. Eu tenho esse material, e até poderia fazer outro filme com ele. Tenho ele tocando em São Paulo, em outras cidades, com as mais diversas bandas, fazendo alguns concertos mais pop. Mas o filme é apenas o recorte de um dia. Eu nunca tinha visto ele vocalizar, por exemplo, aquilo era novidade para mim. Seguimos a ideia do Thelonious Monk sobre o improviso do som: a improvisação se torna dinâmica de construção. Quais notas emergem da profundeza? Com este recorte, já se toma uma decisão clara e evidente sobre o trabalho. Como conheço o Leo há dez anos, é duro abrir mão de tanto material interessante. Mas não queria que o espectador tivesse uma visão muito específica do Leo apenas como músico. Fui tomando essas decisões porque considerava importante ter uma coerência no ponto de vista.
Bruno: Temos a impressão de um cinema ao vivo, em tempo real. É menos solene do que uma apresentação didática.
Paula: Essa era a intenção, como um Big Brother às avessas. As pessoas ficam horas e horas consumindo uma forma de televisão
barata, na qual as câmeras se limitam à observação. Os reality shows têm câmeras camufladas, numa dinâmica louca. É um tédio ver estas pessoas transitarem pelos espaços, namorarem nestes programas. As pessoas aderem a coisas muito prosaicas na televisão, e ficam hipnotizadas por aquilo! Aqui, nós também usamos a câmera em tempo real, mesmo que deslocando algumas vezes. Aproveitamos a mesma lógica, a mesma ideia do tempo deslizando diante dos nossos olhos, porém transformado num pensamento bastante forte, enfático e frontal. Sei que a imagem parada no tempo pode tornar o público ineficiente: ele não adere à ideia de não existir uma ação dentro do plano. Disseram no debate que algumas pessoas saíram no meio da sessão. Isso é um risco. Mas o Leo, de maneira muito interessante, discute esse momento atual do Brasil, que me parece muito pertinente. Ele clama por uma discussão, um enfrentamento. Leo olha diretamente para a câmera e fala sobre coisas sérias, importantes. Quando o filme começar a circular em lugares públicos, como escolas, por exemplo, imagino que as pessoas se manifestem.
Bruno: Léo critica inclusive o posicionamento de parte da esquerda, que me parece o público mais propenso a um projeto como este.
Paula: Exatamente. Ele chama à reflexão. O tempo não é apenas uma resolução estética, de linguagem: é necessário que esta fala seja extensa para ele expandir este pensamento ao espectador. Uma tensão se dá permanentemente entre quem filma e o que é filmado. É quase uma coreografia com a câmera. Isso é bonito, uma câmera em estilo action-painting, acompanhando o tempo dele. Esta poderia ter sido uma experiência péssima: nunca se sabe o que vai acontecer entre as equipes, mas parte desse equilíbrio se deve ao diretor de fotografia, que compreendeu bem a ideia do fluxo. São coisas muito estranhas. Algumas filmagens não conseguem ter o fluxo do rio, por mais que as pessoas desejem. Aqui, eu sentia que tudo passou muito rápido, todo mundo
aderiu ao fluxo do Leo. A equipe estava ligada num mesmo percurso. Isso se sente na pulsão da câmera, no tempo dos sons. As pessoas ao redor também queriam ouvir o que ele tinha a dizer, não era uma gravação qualquer. Sente-se no filme essa energia de pessoas apaixonadas ao redor dele. Obviamente, o Leo estava totalmente à vontade, ele sentia confiança na equipe para revelar coisas bem íntimas. Ele também poderia ter pedido para tirar alguma coisa ou outra do que disse, especialmente a parte das drogas. Mas ele fala de maneira muito sofisticada sobre drogas. É uma escrita poética de associações entre temas. Estou contente com esse projeto, muito diferente de tudo o que tenho feito.
Bruno: A propósito de seus outros projetos, você deve apresentar em breve Luz nos trópicos em Berlim. O próprio festival descreveu o filme como “uma experiência sensorial de mais de quatro horas de duração”.
Paula: Ele é quase um filme de aventura. Alguém da equipe me perguntou em qual categoria a gente colocaria o filme, se era drama… Mas pensamos em aventura, o que faz sentido. Ele foi filmado em Nova York, em situações e temperaturas muito diferentes. Existem partes no inverno a -20ºC, numa geleira. Tristes Trópicos foi escrito pelo Lévi-Strauss em Nova York, mas nada no filme é muito explícito: você vai encontrar citações dessa experiência de escrita do livro, embora a montagem ocorra à distância. Você precisa chegar até a quarta hora do filme para entender a primeira hora de duração. Não sei se é uma boa escolha, talvez algumas pessoas do público saiam da sessão antes do fim, mas aí eu não tenho controle. Essa ideia da montagem à distância é muito cara para mim. A montagem de Eisenstein ocorre com dois planos entrando em choque, formando um terceiro plano. Aqui é diferente: um plano está a uma hora na montagem, e o plano com o qual ele se comunica está a três horas na montagem. Esses planos não vão estar juntos, mas eles se relacionam à distância,
como um leitmotiv do filme. É um filme de fluxos também, incluindo um fluxo de consciência. Ele soma as experiências nos rios do Pantanal, na Chapada dos Guimarães, numa aldeia indígena. Não é National Geographic, naturalmente, mas tem contrastes visuais exuberantes. Foi uma experiência radical de fazer um filme fluido com uma equipe relativamente grande e uma fotografia extremamente sofisticada. Tem o século XIX, o século XX e um futuro distópico. Mas isso acontece em muitas tramas agora, até nos seriados da Globo, quando um personagem do futuro visita o passado. Eu não estou inventando nada. Vários autores trabalham ideias parecidas, mas fazemos de maneiras diferentes. Existem milhares de filmes com rios e aventuras em diversas locações. Eu não sou crítica, mas acho que o que existe de interessante em Luz nos trópicos é a articulação entre diferentes espaços, com tom épico. O mais bonito neste filme é a questão indígena. Eu sou latino-americana, sou colombiana. As pessoas costumam dizer que sou francesa, mas nasci na França apenas por acaso: meus pais estavam passando por lá, mas não tenho nada de francesa, sou totalmente latino-americana. Minha mãe é de origem eslava, nascida no Brasil, e meu pai é colombiano. Fui criada na Colômbia, nem mesmo na capital, na província mesmo. A minha relação com a natureza é muito forte. Nada do que eu faço é apenas intelectual: existe sempre algo físico também. A questão indígena atravessa o filme todo, porque ela atravessa as Américas. Talvez seja a nossa única possibilidade de cura: voltar à ancestralidade e perceber que essa constitui uma das nossas únicas alternativas. Mas quero que você veja e tire suas próprias conclusões. Não quero dizer demais e depois você não nota nenhuma dessas questões no filme. Depois a pessoa vai ver e se irrita por não enxergar nada disso. É importante que as pessoas construam esses roteiros, na verdade: meus roteiros são construídos por quem vê os filmes. Eu ainda estou finalizando, porque o filme é gigante. Foi uma surpresa, porque Berlim tomou um risco enorme: eles nos convidaram na última semana de dezembro. Eu enviei o filme e,
três semanas depois, chegou o convite. Ou seja, eles devem ter gostado, acreditaram no projeto. Este é um filme que ocupa o espaço de três filmes pelo menos, então eles foram muito corajosos, porque é fácil programar um filme tão extenso. Fiquei muito feliz. Vamos ver o que dá: tomara que dê tudo certo.
Publicado originalmente em Papo de Cinema, janeiro de 2020.


 Paula Gaitán e o diretor de fotografia Inti Briones durante as filmagens de Exilados do vulcão (2013)
Paula Gaitán filmando Luz nos trópicos (2020)
Paula Gaitán e o diretor de fotografia Inti Briones durante as filmagens de Exilados do vulcão (2013)
Paula Gaitán filmando Luz nos trópicos (2020)
Refundar esta terra
Victor GuimarãesLuz nos trópicos é feito de imagens das mais variadas feições, escalas, texturas e tons. Um motivo visual, no entanto, salta aos olhos por sua recorrência. Um rio estreito e curvo, cercado de mato e encimado pelo céu espelhado na água, é adentrado por uma câmera serpenteante e calma, cuja marcha adiante encampa um movimento de descoberta. Seu oposto simétrico também retorna uma e outra vez: um rio turvo é percorrido por um barco que recua rapidamente, deixando para trás a água tumultuosa e a silhueta cada vez mais distante de uma cidade. De um lado, um Pantanal imenso em sua verdura, ao qual o filme chega de mansinho, flutuando no ritmo das pequenas embarcações. Do outro, uma Nova Iorque invernal, que o filme habita para deixar para trás. De um lado, uma imagem composta segundo um princípio da multiplicação dos estímulos: o céu sobre a água distorce e redobra as matérias celestes, e a cada curva vamos descobrindo um mundo mais e mais vasto. Do outro, uma cidade tantas vezes narrada, que vemos cada vez menos, como se a paisagem urbana fosse, no decorrer do plano, se transformando em esboço. Esses motivos complementares talvez traduzam o movimento duplo do filme. Por um lado, um filme da descoberta incessante, tomado por um frescor inaugural de primeiro contato com as coisas. Por outro, um filme denso de fábula, povoado por camadas

e camadas de ressonâncias míticas e históricas. Após o prólogo, que condensa ambos os gestos, a feição inicial de Luz nos trópicos se assemelha à de blocos narrativos: o retorno de um jovem indígena contemporâneo à sua aldeia natal no Xingu, com a retomada de um cotidiano esquecido na distância, é secundado por um longo entrecho de época, em que um grupo de europeus em expedição novecentista se aventura pelas paisagens imemoriais dos trópicos. À medida em que adentramos a duração do filme, no entanto, essa impressão primeira logo se desfaz, para dar lugar a um incessante trânsito entre tempos e espaços. Os personagens que pareciam habitar épocas distintas passam a conviver no mesmo tempo-espaço, seja em território brasileiro, seja em Nova Iorque. A construção meticulosa da cena dá lugar a um amálgama dissonante de performances, derivas pela epiderme das coisas, inventários de objetos, variações experimentais abstratas.
Não que não houvesse já, desde o princípio, um vai e vem: estão lá os momentos interiores aos blocos em que a delimitação temporal falha, como quando Arrigo Barnabé – com seu figurino de época – arma uma performance contemporânea no interior de uma gruta. As fronteiras entre ator e personagem, entre passado e presente são, desde sempre, porosas. Os raccords de olhar fazem o filme saltar de Nova Iorque à Chapada dos Guimarães num corte. As vozes lusitanas, francesas e espanholas ressoam nas montanhas dos trópicos, assim como a voz Kamayurá interpela a grande metrópole norte-americana. Nada mais oportuno, uma vez que, ao menos desde Twenty-Four-Dollar-Island (Robert Flaherty, 1927), a história do cinema já nos ensinou que Nova Iorque é terra indígena. E se a câmera de Gaitán se dispõe a escavar tanto a paisagem pantaneira quanto a novaiorquina, é porque elas são feitas, também, de história.
Mas há esse desejo inicial de instaurar um mundo ficcional, construir um edifício narrativo para depois dinamitá-lo. O filme ergue-se inteiriço, para depois se esfacelar em mil pedaços. No fim das contas, é como se todo o repertório de formas elaborado
pelo cinema de Paula Gaitán ao longo do tempo, de Uaka (1988) a É rocha e rio, Negro Leo (2020), fosse convocado a comparecer em Luz nos trópicos. Aqui estão o trabalho sobre as texturas de Diário de Sintra (2007) e o labirinto narrativo de Exilados do vulcão (2013); o furor performático de Vida (2008) e a atenção à paisagem de Agreste (2010); as coreografias de Noite (2014) e o trabalho de escuta do filme com Negro Leo. Se Exilados do vulcão era um filme igualmente fragmentário e cheio de derivas, mas cuja montagem imperiosa dava a impressão de um fluxo narrativo íntegro, sempre relançado na sequência seguinte, Luz nos trópicos tem a fisionomia de um ateliê aberto, em que cabem os mais variados gestos: do diálogo em campo-contracampo à performance, da contemplação da paisagem ao mergulho na desfiguração, da duração estendida do plano à dissolução veloz dos fotogramas, das melodias do corpo às coreografias da luz. Diante do filme, os modos de engajamento também variam, e cabe tanto a contemplação serena – a “mornice propícia às lentas maturações” de que nos fala uma voz lusitana – quanto o assombro súbito de um raccord improvável; tanto o maravilhamento da descoberta quanto o mergulho opaco numa jornada rumo ao desconhecido. Isso não significa, contudo, que estamos diante de um filme indeciso. Se Paula Gaitán implode de um golpe o mundo ficcional que construiu na primeira metade do filme, é porque sempre praticou um cinema que eleva o esboço à mais alta densidade artística. Porque, para manter o vigor da descoberta, é preciso se desvencilhar de qualquer pretensão de totalidade. Ao mesmo tempo, embora seja um filme muito pouco verbal – seu convite sempre refeito é para uma deriva nas matérias e nas sensações –, há textos que retornam uma e outra vez, e permanecem como refrões que iluminam o conjunto. A voz Kamayurá que nos conta da criação do mundo, a frase recorrente de Arrigo Barnabé (“Ah! Les bruits de la nature!”), a canção de Chavela Vargas entoada por Clara Choveaux (“Voy hacia la vida/antes iba a la muerte”), todos esses fragmentos elaboram ecos que ressoam pelo tecido
do filme, sugerem caminhos de interpretação, mas permanecem vibrantes em sua energia evocativa.
Seria possível fazer um inventário dos momentos em que a imaginação latino-americana – aqui ou no exílio – enfrentou a tarefa monumental de sonhar uma refundação desta terra, escovar seus mitos inaugurais a contrapelo no mesmo movimento em que liberava os sentidos das amarras da racionalidade colonial. Esses momentos se chamariam Org (Fernando Birri, 1979), A idade da terra (Glauber Rocha, 1980), O Teto da Baleia (Raúl Ruiz, 1982), Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro (Marta Rodríguez e Jorge Silva, 1982), Zama (Lucrecia Martel, 2017) e Luz nos trópicos No interior desse breve inventário, talvez o esforço cinematográfico mais próximo de Luz nos trópicos seja a realização no exílio, durante mais de uma década, da obra-prima Org, de Fernando Birri, terminada em 1979. Como Org, Luz nos trópicos também pode saltar, de um momento a outro, da narrativa alegórica à experimentação veloz com as texturas; da imersão sensorial no plano ao distanciamento reflexivo; do mais absoluto delírio poético à mais contundente intervenção política. Segundo uma anedota reveladora, diante da pergunta de Julio García Espinosa em visita à moviola na Itália (“Por que você está demorando tanto tempo para fazer esse filme?”), Birri teria respondido: “Não é que eu esteja demorando tanto tempo para fazê-lo, e sim para desfazê-lo”. Luz nos trópicos também embarca numa jornada de desintegração. A impressão mais marcante é a de um filme altivamente estraçalhado por dentro, cujas entranhas somos convidados a habitar. A certa altura – este é um dos refrões que comparecem mais de uma vez –, uma voz lusitana compara os primeiros raios de sol aos últimos do dia, concluindo que não é por outro motivo que a humanidade sempre prestou mais atenção ao pôr-do-sol que ao seu nascer: enquanto a aurora apenas anuncia o dia que virá, o crepúsculo é uma espécie de retrospectiva luminosa de seus conflitos, que retornam na enérgica luta final encenada a cada fim de dia. Se pudéssemos reivindicar essa metáfora para o cinema,
diríamos que o autor dessas linhas preferiria sempre as virtudes narrativas àquelas da experimentação. A tarefa de Luz nos trópicos talvez consista em estremecer esses pressupostos: no travelling que percorre o rio pantaneiro uma vez mais, cada personagem comparece com sua indumentária para instaurar novamente, no intervalo entre um arbusto e outro dessa terra tantas vezes figurada em sua virgindade, uma pujança de evocação alegórica infinita. Na sequência complementar de travellings ao som da canção Winter in America de Gil Scott-Heron, as vidraças nova iorquinas reluzem em sua palidez invernal, e a câmera redescobre ali, por baixo dos sedimentos de tantas histórias mil vezes narradas, um insuspeitado furor de inauguração.
É então que a face do rio serpenteante, pleno de desejo, se torna indissociável daquele outro rio turvo, que nos deixa entrever a metrópole no horizonte. Se o cinema pode ser lúcido o suficiente para remover a poeira do tempo e escavar uma vez mais este mundo caquético e em vias de desaparecer, ele ainda é capaz de nos fazer experimentar, aqui e agora, a exuberância febril de um mundo novo, que acabou de nascer.
Desvio para o verde
Juliana CostaQuatro linhas radiais desenham o primeiro plano de Se hace camino al andar: ao fundo o horizonte brumoso, indefinido; paralelamente, a estrada principal e sua rota dura, objetiva; perpendicular a estas, vindo ao nosso encontro, a estrada de terra, caminho desviante; e, enfim, brilhando em esplendor solar, ladeando o chão batido, a massa volumosa do milharal, o completo desconhecido. É preciso que o mais novo filme de Paula Gaitán traga em sua imagem inaugural os caminhos e, sobretudo, seus desvios. Percurso e intervalo, fluxo e interrupção.
Sabendo que montagem é música, Gaitán vem investigando em sua obra recente – e que obra: dois longas-metragens e dois filmes de menor duração em dois anos – os ritmos orgânicos das imagens que engendram suas narrativas. Se É rocha e rio, Negro Leo (2020) e Luz nos trópicos (2020), são filmes fluviais, em que o fluxo das águas, do pensamento no primeiro, e da floresta no segundo, orienta os tempos, as constâncias e as irrupções das imagens, seus dois curtas-metragens de 2021 inventam jogos de repetição e diferença singulares. Gaitán experimenta ritmos únicos porque intrínsecos às imagens e aos personagens que filma. Em Ostinato (2021) é a dissonância da obra de Arrigo Barnabé, personalidade ímpar da música de vanguarda brasileira, que conduz o filme através das ideias, da música e da conversa entre cineasta e personagem.

Já em Se hace camino al andar (2021) este jogo entre repetição e diferença é ainda mais explícito. É a relação entre corpo e espaço que dá o tom. Os movimentos de um corpo à deriva – que ora dispara como uma flecha em direção ao alvo, ora divaga ao sabor de um vento de cânticos originários – surpreendem a câmera, desenhando seu ritmo orgânico na paisagem. Este corpo que anda ao ritmo do acaso também parece atender a um chamado ancestral. Como em Luz nos trópicos, em que o personagem indígena recebe um sinal difuso, do vento, do rio, da música da terra, aqui pode ser um sussurro sibilante ou uma percussão telúrica que o fazem desviar da estrada e adentrar o oceano verde das plantações.
Um desvio para o verde, parafraseando o título da obra icônica de Cildo Meireles, Desvio para o vermelho, cujo título remete ao fenômeno cosmológico em que a luz que viaja para Terra de galáxias distantes é esticada pela expansão do espaço de seu trajeto. Espaço em expansão e modificação da matéria – e não é o corpo, em Se hace camino al andar, que modifica o espaço por meio de sua imprevisibilidade?
A transgressão do filme de Gaitán está neste desvio, como na fúria objetiva com que o personagem enfrenta um trator-inseto nos primeiros minutos do filme, mas vai além. Ela está sobretudo na displicência atrevida com que os movimentos do personagem interrompem as paisagens, estrada ou plantação, rabiscando as linhas de força do quadro fílmico, inventando um ritmo que possui a imprecisão da liberdade. Um ritmo, como diz Arrigo Barnabé em Ostinato, impossível de ser assobiado por ditadores. E é neste ritmo que Gaitán tem construído sua obra ao longo dos anos, ouvindo chamados dissonantes, arriscando desvios para o verde, para o vermelho, para a liberdade. Fazendo caminhos ao andar.

Vermelho-azul
Lorenna RochaO canto das amapolas (Paula Gaitán, 2023) inicia-se com uma série de frames em preto-e-branco que aparecem e somem rapidamente, fotografias de uma casa que está povoada de móveis, imagens, documentos e memórias. “A casa tá aqui, mas é uma construção”, afirma a diretora ou sua mãe, Dina Moscovici, já nos últimos momentos do filme, onde as vozes de ambas se confundem aos nossos ouvidos. A frase aponta para um atrito entre a materialidade do espaço e sua dimensão constitutiva, uma vez que a temporalidade, processualidade e imaginação entram em jogo, nos fazendo lembrar que a casa também pode ser algo inventado, assim como as histórias compartilhadas por Moscovici à sua filha. Curiosa pelo passado de sua família, a qual é marcada pela tradição alemã, judaica, brasileira e colombiana, ouvir sua mãe é buscar uma (re)territorialização de si mesma. No entanto, ter a própria imagem refletida no espelho não é sinônimo de autoidentificação, nem de autorreconhecimento. O jeito em que a diretora nos apresenta som e imagem leva-nos a intuir que há ali alguém tão perdida quanto a origem ou veracidade dos relatos de Moscovici. À medida em que se reencontra com a mãe, ela passa a se reconectar com a cidade de Berlim, passeando por lugares de memória que figuram beleza e, ao mesmo tempo, guardam o terror de episódios históricos como o Holocausto. Como lidar
 ← Paula Gaitán, o diretor de fotografia Pedro Urano e o técnico de som Marcos Lopes durante as filmagens de Luz nos trópicos (2020)
← Paula Gaitán, o diretor de fotografia Pedro Urano e o técnico de som Marcos Lopes durante as filmagens de Luz nos trópicos (2020)
com o pertencimento frente a uma história familiar marcada pelo desterro?
As imagens correm soltas, autônomas, em associações livres que quase nunca se correlacionam com o que está sendo conversado entre as duas mulheres. Vemos jardins, lápide, céu, árvores, cômodos da casa. Por vezes, os planos são fixados em um lugar da residência, onde talvez nós não nos demorássemos tanto a permanecer com a vista. Gaitán nos convida a olhar pacientemente para uma janela que, devido ao movimento de sua cortina branca, denuncia o vento que transita pelo ambiente, solto, leve, no seu próprio tempo. Observar o modo como esse fenômeno da natureza entra e sai da casa se aproxima à maneira como as memórias de Dina Moscovici percorrem a tessitura fílmica.
A impossibilidade de ser incólume àquilo que busca dá liberdade à Gaitán para fazer intervenções diante de sua entrevistada. “Fala de novo, estou gravando.”, “Isso não é assustador, é lindo!”, “Mas ela [a avó] era judia e frequentava a igreja católica?” são algumas das frases que marcam a interrupção, dúvida ou diferença de perspectiva da diretora em relação a sua mãe. Esses momentos de não apaziguamento entre Gaitán e Moscovici dão certa comicidade ao filme e nos faz perceber, ainda, que não há nenhum desejo de construir uma imagem imaculada para essa figura materna que nos é apresentada.
Não são os registros históricos, nem tampouco as imagens ficcionais, que se tornam aporte para a construção de uma narrativa sobre si, sua mãe e seus familiares. É o ruído e a não legibilidade que ganham espaço quando uma cacofonia visual e sonora se instauram nesse desejo de ser “historiadora de si mesma”. Apesar das fotografias e dos documentos pessoais que se revelam em frente à câmera, Paula Gaitán escolhe o mistério e a imaginação para grafar o desconhecido, deixando aparente as lacunas, incertezas e mutabilidade das memórias que acompanham e dão forma ao seu mais recente trabalho. Consciente da natureza inconsistente de sua operação historiográfica, Paula
Gaitán partilha justamente a instabilidade de sua investigação com as espectadoras a partir da fricção entre imagem e som, nos impulsionando a cocriar diante do que vemos e ouvimos.
A permanência da fala converte a voz de sua mãe em som, que pode ser harmônico, ruidoso ou descompassado. A insistência sonora faz com que a sonoridade, muitas vezes, se torne mais importante do que está sendo revelado pelas palavras. O momento mais evidente desse investimento formal é quando um homem branco fala expressivamente em alemão: nós vemos frontalmente seu rosto, mas a legenda da tradução de suas frases nos é completamente negada. Nos resta, então, ouvir e sermos porosas a entonação e ritmo de seu monólogo. Essa camada de sensorialidade, que não perpassa necessariamente pelo logos, aparenta ser também um certo não entendimento da própria filha em relação ao que é compartilhado por sua mãe.
O trânsito entre revelar as imagens e mergulhar na escuridão da invenção é marcado por duas cores que desenham o campo de força imaginativo de O canto das amapolas: vermelho e azul. Em um quarto de luz vermelha, uma mulher branca olha fixamente para um slide de fotografia analógica. Em imediata associação à revelação das imagens, a sequência marca a vontade dos registros físicos da memória, vestígios que poderiam elucidar a narrativa que está sendo manejada por Gaitán. Já perto do final do filme, é a cor azul que pinta a tela. Com a voz mais debilitada, na imensidão azulada, acompanhamos a mãe de Paula Gaitán afirmar: “tudo é ficção”. A inventividade ganha espaço porque tanto os indícios físicos da memória, quanto a oralidade, são fugidios.
Montagem como ritmo, câmera como pincel: uma conversa com Paula Gaitán
Lorenna Rocha e Renan Eduardo
O impulso inicial para fazer uma conversa com Paula Gaitán era investigar seus entendimentos e procedimentos em relação à montagem. Além disso, havia o desejo de buscar informações que elucidassem ou que pudessem oferecer às leitoras uma introdução possível à prática da montagem. Durante a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Lorenna Rocha e Renan Eduardo, fundadora e entrevistador da camarescura, se sentaram ao lado da cineasta colombiana-brasileira para se aproximarem dos processos de criação, das inflexões e dos percursos referenciais que incidem na atuação dela como diretora e montadora.
Lorenna: O que é montagem para você?
Paula: Ritmo. Por outro lado, é como se fosse uma partitura. Para mim, a montagem é a coluna vertebral do filme, não o roteiro. Serguei Eisenstein (1898-1948) e Dziga Vertov (1896-1954) já falavam disso, não sou eu que estou dizendo. A montagem é a base da primeira leitura da história do cinema. Quando Vertov estava com a película fazendo decupagem de imagens quase subliminares, ele

estava fazendo montagem rítmica, montagem paralela. Glauber Rocha (1939-1981) falava de montagem atômica, nuclear. Temos também os filmes de Yasujiro Ozu (1903-1963). Há o plano tatame e ele também trabalha uma montagem bem específica. É linguagem. Acredito que seja muito importante para qualquer diretor ter a experiência física de trabalho com a montagem. O diretor pode estar na montagem sem pilotar o programa ou aplicativo de edição, mas é importante conhecer. Isso facilita o processo enormemente. A produção desse imaginário te dá ferramentas. É um conjunto de gramática, um vocabulário com vários fatores.
Lorenna: Durante o ‘Encontro com os filmes’ a partir de O canto das amapolas (2023), você comentou que montar os próprios filmes significava criar mais autonomia de trabalho e possibilidade de produzir em maior velocidade. Gostaria de te ouvir mais sobre essa relação entre montagem e direção cinematográfica.
Paula: Trabalho muito com associações livres e conexões de cores. Geralmente, quando filmo e vejo o material, já o memorizo. Isso se relaciona com o fato de que, durante uma época da minha vida, trabalhei em televisão. Meu primeiro longa, Uaka (1988), foi montado em uma moviola. Há algo fascinante na materialidade da película e em tudo que está relacionado à ela. Demorei quase dois anos editando o som de Uaka, acredito que esse seja o meu melhor trabalho. Ele virou meio cult porque era em película, depois o negativo foi perdido. Recentemente pude restaurá-lo e um fragmento dele está em Luz nos trópicos (2020). Os processos de montagem eram muito longos, passávamos horas dentro de uma sala de montagem com uma moviola, com todos os planos num varal, olhando para os negativos. Passei para o digital no meu segundo filme, LygiaPape (1991). Na época do governo de Fernando Collor (1990-1992), fui para a Colômbia e comecei a trabalhar na televisão cultural de Bogotá, uma TV estatal. De lá saiu toda uma geração de cineastas colombianos, porque até então
não havia tradição de cinema no país. Estou recuperando vários documentários desse período agora. Essa experiência me ensinou a montar. Nós tínhamos apenas trinta e quatro horas para editar. Se alguém errasse no terceiro plano ou no meio, era preciso refazer tudo do zero. Precisávamos conceituar e nomear os planos antes da montagem porque, se houvesse qualquer erro, nós deveríamos voltar até o primeiro e o tempo era curto demais. Como era uma estatal, era preciso respeitá-lo. Isso me deu uma prática de memorização do material. Quando faço filmes com várias horas de material, penso na montagem ainda durante a filmagem. Inclusive, invento novos planos a partir disso. É uma coisa louca, é física, é a memória. Consigo te dizer qual o dia que filmei certo material, identificar uma sequência específica ou um plano dentro de uma sequência. Tenho uma memória visual aguda e, em geral, não erro. Quando entro na montagem, não escrevo nada. É um processo muito veloz de associação, porque conheço o que tenho em mãos, sei onde estão as coisas que preciso.
Lorenna: Olho para filmes como Sutis interferências (2017), Memória da memória (2013) ou O canto das amapolas, para sua filmografia de maneira geral, e me surpreendo como cada trabalho é radicalmente diferente. Você consegue traçar uma retrospectiva dos filmes que dirigiu e pensar na diferença da montagem entre eles?
Paula: Consigo pensar sobre isso a partir do Diário de Sintra (2008). Tenho uma série de filmes que procuram um som muito estilizado. Há muita fusão. Não gosto da palavra “imersivo”, mas é algo que te dá um certo conforto na passagem de um plano a outro. Mas, mudei. Ela se dá agora só por corte. Gosto de um som mais bruto, não faço mais fusões, não boto camadas fakes, que dá essa sensação meio atmosférica, não trabalho mais assim. Trabalho com cortes secos e mais brutais. Comecei a me interessar por uma certa fricção entre os materiais, que sejam intervenções por contraste e não por diluição interna. É preciso que
as passagens sejam mais acentuadas. Sutis interferências e Noite (2014) são filmes que trabalham com essa lógica de ruptura. No primeiro, há também essa relação do corpo, da câmera e do som. Como realizadora, montadora e camarógrafa, comecei a me interessar por planos-sequência que possuem uma relação de atração e repulsão entre câmera e som. Essa dinâmica cria um embate físico dentro do próprio plano, como se houvesse uma luta acontecendo entre os dois elementos. Embora possa haver momentos de aconchego e carícias, em geral, a câmera está em ação e em discussão com o som, criando uma montagem interna dos planos. Essa abordagem mais direta do cinema, sem depender de uma pós-produção elaborada, é algo que me atrai. Não busco ser apenas diretora de fotografia, mas uma câmera que se movimenta com energia e envolvimento em cada plano, criando um diálogo vivo entre a imagem e o som. Em O canto das amapolas, por exemplo, não tem nenhuma manipulação do material de Super-8. Uso a extensão dos rolos, que variam de dois minutos e meio a três. No momento em que estou filmando, já consigo identificar quais são os diferentes ritmos. Como no plano-sequência onde aparecem as fotos da minha mãe criança e depois ela fala “estávamos correndo”, mas isso foi coincidência. Não calculei o tempo da fala dela. São coisas que acontecem, mistérios. Chamo de mistérios da forma ou mistérios das intuições. Nesses materiais feitos em Super-8, aproveito tudo, até plano fora de foco. Não tem uma hierarquia. Antes eram filmes mais formalistas no mau sentido [risos], porque tudo é forma e conteúdo, né? Muitos filmes são precários, mas você precisa apenas ter uma câmera e o seu corpo para criar uma obra de arte. Vejo a utilização da câmera como um pincel, como se estivesse jogando pintura. Venho das artes plásticas, então talvez seja mais fácil para mim visualizar essa série de gestos. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que saber que está em risco e assumi-lo. Tem que ter coragem. Sem coragem não se faz obra nenhuma, não se constrói nada. E honestidade. Não é para fazer um filme querendo atingir mercados
ou sucesso no mundo do cinema e da arte. Isso se tornou bastante superficial, há muitos filmes que se assemelham e é algo bem alienante. Não me interesso por esse tipo de coisa. Um diretor que acho genial, que amo muito, é o Gabriel Martins. Ele sabe de tudo, até de efeitos especiais. E o Guto Parente também. Sempre falo que gostaria de ser como eles, porque são criadores! São duas pessoas que sabem de todos os processos. Gostei muito de ter visto Marte Um (Gabriel Martins, 2022), porque acredito que seja uma resposta a um tipo de cinema comercial e popular que está sendo feito. Há momentos da fotografia e da montagem que são lindíssimos, justamente porque se tem conhecimento do processo inteiro. É a capacidade de acompanhar tudo como se fosse um operário, isso é muito importante.
Lorenna: O crítico e jornalista Gabriel Araújo fez uma entrevista com Cristina Amaral para a Mostra Lona (2022), onde ela afirmou que gostaria de fazer montagem da mesma forma que João Gilberto (1931-2019) fazia música. Essa relação entre montagem e música está bem presente na sua filmografia. Poderia comentar sobre isso?
Paula: Não saberia dizer em que sentido exatamente a Cristina está falando, mas acho que ela tem uma escritura mais fina que a minha. Ela sabe aprofundar cada corte, dar o sentido. É mais straubiana. Cada corte tem um sentido muito profundo, ela é mais precisa. A questão da música, para mim, se organiza no momento da montagem. Já montei um filme com a Cristina. Sinto que o processo dela é mais racional e poético. O meu é mais intuitivo, impreciso e associativo. Às vezes, um corte se dá pela cor, mas a música é fundamental. Isso se dá em paralelo à montagem sonora. Tem montadores que primeiro montam a imagem e depois passam para a edição de som. Não poderia fazer um filme longo como Luz nos trópicos se não editasse o design sonoro simultaneamente. Aconteceu o mesmo em O canto das amapolas. Fui
colocando sons, fazendo layers sonoros, experimentando muitas coisas: editei som e imagem de forma simultânea.
Lorenna: Estava aqui buscando o trecho da entrevista em que Cristina compartilhou sobre como a música altera o corte dela: “Para a montagem, um montador tem que ter uma relação com a música e com o ritmo. O montador tem que saber dançar… Sempre me perguntam quem é meu mentor na montagem, eu digo que é João Gilberto. Ele faz uma coisa com a música que é impressionante. Ele desfaz o tempo inteiro a palavra da melodia. Ele não canta a frase escrita junto com a frase musical, ele sempre desfaz um pouco, ele avança ou ele atrasa, e ele tinha uma relação que é maluca. Você pode decorar todo o disco dele que na hora que ele for cantar, você vai cantar errado. Ele conseguiu achar uma coisa muito linda e pessoal que mexe com a gente. Eu enlouqueço ouvindo João Gilberto exatamente por essa liberdade de transição de estar entre a palavra e a música, que é uma coisa que eu tento buscar de certa forma no cinema e que eu nunca vou conseguir e nem vou chegar perto” .
Paula: Nossa, que lindo! Essa frase é avassaladora, contundente.
Lorenna: O material bruto do teu cinema vem também pelo som, pelo descompasso sonoro. Ela menciona essa coisa da melodia e da palavra, fiquei pensando como é que isso poderia, de alguma forma, se encontrar com teu modo de pensar montagem, de fazer cinema…
Paula: Talvez, mas acho que ela trabalha com esse refinamento do João Gilberto, né? A Cristina é de uma elegância… Ela domina o corte. Há aquela famosa discussão entre Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, em Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Cineastas – Onde jaz o teu sorriso? (Pedro Costa, 1999), sobre um frame a mais para cá ou para lá. Posso até ter essa sensação de um
frame para cá e um frame para lá, mas sou mais imprecisa. Às vezes, essa imprecisão é mais action painting. É um gesto de inconsciência que está sendo feito.
Lorenna: Intuição?
Paula: Isso! Vejo mais por esse caminho, pela associação de ritmos, cores, por essa parte “irracional”. Depois vem o sentido. Vou encontrando sentido nessas associações livres.
Renan: É rocha e rio, Negro Leo (2020), O canto das amapolas e Mulher do fim do mundo (2017) são filmes de escuta muito forte. Por exemplo, no É rocha e rio…, os planos se estendem junto à fala do Negro Leo, há planos bem extensos. Em O canto das amapolas, a montagem acompanha o embate entre você e sua mãe. Em Mulher do fim do mundo, você acompanha o ritmo da Elza Soares, a cadência mais branda de um momento da vida dela.
Paula: Vou contar como fiz a montagem desses três filmes. No caso da Elza, foi surpreendente, porque não sabia que ia ter que montar essa música. Foi um susto. Algum dia mostro a quantidade de estudos que fiz para essa montagem. Talvez, na minha carreira, na minha vida, eu nunca tenha feito tantos estudos de ritmo. Primeiro, fiz com fotos, com plano de cor. Antes, peguei frames da internet e frames aleatórios para entender a batida do ritmo da música. Fiz muitos ensaios. Seria lindo mostrar isso um dia. Elza estava com problemas de locomoção, sabe? Ela realmente não conseguia caminhar, era um problema na coluna. Eu precisava encontrar mobilidade na estrutura da montagem, mesmo ela estando imóvel. Tomei algumas decisões em relação à dinâmica do clipe a partir dessa série de estudos. Nunca havia feito um estudo de ritmo como esse, mas o que daria movimento à cena seriam as atrizes, elas seriam projeções do corpo da Elza. Não queria usar um plano geral dela, porque percebi como ele revelaria essa
questão física, então decidi trabalhar com a lente. Criei contraste nos corpos que se movimentavam com o primeiro plano dela, com os olhos, um gesto do rosto. Foi algo bem original, porque não usei nada da estrutura do show. Estávamos com uma lente macro e a Elza foi super generosa. Tudo se passa do ombro para cima para não revelar muito dessa imobilidade, como se isso partisse dos olhos dela. Os olhos, as mãos e a boca dariam todo o movimento. Disso, viria a montagem das atrizes Grace Passô, Mafalda Pequenino e Mariana Nunes. Fiz planos de uma dramaturgia mais fechada no rosto de Mariana, um trabalho de atriz. Mafalda traria movimento porque é bailarina e Grace tem um trabalho com o corpo, que também já vinha do repertório dela. Ela vinha caminhando, um outro tipo de mobilidade, que não era mais a dança. Para criar uma estrutura rítmica dentro do clipe, Mafalda teria velocidade, Mariana teria os primeiros planos do rosto dela articulando toda a montagem e Grace seria esse movimento na luz. Um movimento mais telúrico, saindo do corpo dela. Não inventei nada, isso já existia. Só aproveitei o que cada uma dessas mulheres extraordinárias tinham. Todas elas eram apaixonadas pela Elza, então foi como um tributo. Foi um projeto muito forte, nunca trabalhei com tanta harmonia, tudo funcionava. Acho que ficou muito lindo. O processo de decupagem de cor e de movimento foram muito minuciosos. Aprendi demais. Fiz fotos de coisas que tirava da pesquisa do clipe da Elza, de planos de cor, para pontuar o ritmo, isso me guiou. Um dia vou mostrar isso para vocês, são lindos. Fiz a montagem, deu muito certo. [risos]. O mais assustador foi que nunca tinha visto o show do disco A Mulher do fim do mundo (2015). Elza foi cantar no Circo Voador (Rio de Janeiro) quando eu já estava quase finalizando o clipe. Fui convidada para ver o show um dia antes de apresentá-lo para a equipe. Já conhecia a Elza, ela é um amor, mas nunca tinha visto um show dela com público. Fui sozinha para o Circo, me tremendo. Subi para o segundo andar, o espaço estava lotado. Todo mundo estava dançando, mas eu fiquei petrificada. O show
começou com a música que dá título ao álbum e a casa de festas quase caiu. Olhei para isso, fiquei com medo, com dor de barriga, congelada, aterrorizada! [risos de todos]. Umas duas senhoras, que estavam dançando perto de mim, viraram e falaram: “Minha filha, dança! Se mexe!” [risos de todos]. E eu completamente parada. Fiquei paralisada, parecia um zumbi! Parecia que tinha tomado algo pesado. As pessoas gritavam e dançavam e aquela música era impressionante. Pensei: “Tô ferrada, se esse clipe não funcionar, vou passar a maior vergonha! Agora que saquei que é a Elza, saquei o tamanho da responsabilidade! E eu aqui fazendo cinema experimental: luzinha pra cá, luzinha pra lá, botando umas bolinhas e toda essa teoria do movimento.” [risos de todos]. Peguei um táxi, voltei para casa correndo, com muito medo. Fiquei até às três da manhã revisando o clipe. Revisava, olhava, os gatos perto de mim miando, todos enlouquecidos. Quando Guilherme Kastrup [diretor musical de Elza Soares] chegou lá em casa e viu, ele ficou meio “o que é que é isso?” E eu: “É o clipe como imaginei. Me desculpa!”. E ele respondeu: “É lindo! Estou emocionado! Que coisa maravilhosa! Vou levar para Elza”. Ela se apaixonou, só pediu para trocar um plano que achava que não estava tão bem. Ah, uma coisa: fiquei em dúvida se colocava figura masculina no clipe. Havia feito alguns planos com o René [Ferrer] de máscara, um amigo cubano, um puta músico, que é um colosso, lindo. Tem os planos dele, né? Aquela parte da máscara e do corpo dele, não como se fosse um homem… Porque, para mim, a mulher do fim do mundo é a mulher do devir. Um devir político, histórico. É uma mulher devir, a potência da mulher. Então, a figura masculina aparece mais como mito, como a representação do homem.
Lorenna: Uma aparição?
Paula: Quase como se fosse uma entidade. Acho que ficou no ponto certo. Elza adorou, foi um sucesso. Nós fomos juntas para
São Paulo, lançamos o clipe. Foi uma relação linda, ela ficou muito grata. Depois fui para Nova York filmar a Elza, porque eles queriam que eu fizesse um documentário. Só que eu falei que não, já havia dado o que tinha que dar para esse videoclipe. Não queria fazer um documentário seguindo a Elza em shows. Esse foi um tipo de montagem que se deu procurando e aprendendo sobre o ritmo, porque é um videoclipe. O caso do É rocha e rio, Negro Leo é diferente. Ele é um filme de tripé. O que acontece nele, que gosto muito, é algo que encontrei na hora da montagem. Queria sintetizar e, ao mesmo tempo, deixar o plano extenso, para ter todo o processo reflexivo do Leo, para se aproximar do processo de construção filosófica, do pensamento dele. Leo me falou que achava que estava muito longo. Mas o que me interessava era expandir, para ver como é que ele se contradiz. A montagem é muito precisa, muito minimalista. A câmera vai girando. Tem alguns momentos de câmera na mão, mas, em geral, a câmera está no tripé e vai rodando no apartamento. A ideia era que o filme fosse feito numa tarde e que a câmera estivesse rodando pela casa. O ordenamento do material é cronológico.
Renan: Rodando quase junto com o sol, né?
Paula: Com o sol e a cronologia. A montagem foi por onde começamos, como prosseguimos, até que fomos tendo uma intimidade enquanto equipe, ele começou a tocar em questões muito mais fortes até passarmos a trabalhar com planos frontais: Leo olhando para a câmera como se estivesse falando com o público. Tem aquela sequência da música, né? Que ele começa a ouvir música e há um corte interno. No começo, no dia da filmagem, o Leo ainda não estava pronto, então percebi que era interessante filmar o movimento de fora do apartamento. Achei isso lindo, mas só descobri no momento da filmagem. Como sou parente do Leo [Negro Leo é companheiro de Ava Rocha, filha de Paula Gaitán], passava muito por lá, mas muitas vezes não subia, só falava pela
sacada: “Oi, Leo! E aí? Como é que tá a política?”. Virou uma conversa meio Street View. Ele adora isso, já tinha visto Leo falando com pessoas na varanda. Tinha gente que nem subia, ele ficava falando da rua. Algo que acontece muito no interior, né? Você fica falando na porta de casa, na janela. Esse filme parece simples, mas a montagem é que define esse tempo interno, tem sua peculiaridade. Não é um filme jornalístico. É sobre pensamento. O filme propõe um tempo dilatado, onde tudo esteja à luz, coisa que qualquer documentarista vai detestar. O documentário sintetiza as coisas, é o procedimento dele. Tudo bem. Mas, aqui não. Depois termina com aquela linda performance do Leo, que nunca mais vai se repetir, porque ele fez de improviso num show. Cada filme é diferente, então ele toma o tempo necessário para existir e passa voando. Dei uma torção no material. Ele é mais complexo do que parece. Quase não falo nesse documentário, porque achei que não fazia sentido minha voz aparecer. Vejo esse filme também como um filme-manifesto. Várias coisas aconteceram quando eu estava repassando o material. Me pareceu muito mais rico. Era maravilhoso, não dá para fazer isso com todo mundo. Tem que ter a força do Leo, daquelas ideias. Ele é dialético, né? Ele fala uma coisa, depois se contradiz, depois vai… Essa coisa dialética me pareceu muito interessante. Já O canto das amapolas é como se tudo já estivesse predestinado. Como se o som que existia antes, na hora de colar… Parecia que tudo dava certo. Foi um filme meio feito num estado de inconsciência, porque foi o filme mais livre, mais solto, que já fiz na minha vida. Não lembrava que minha mãe, por exemplo, falava que meu avô só se comunicava em alemão. Não fiquei com o texto do áudio, ouvindo e filmando. Fiz primeiro a filmagem. Na hora da montagem, eu achava tudo uma loucura. Ela falava que estava correndo e as imagens estavam no mesmo fluxo. Tinha algo divino me acompanhado. Tenho premonições e, às vezes, a vontade me leva a lugares insuspeitos, a momentos de iluminação. Não falo isso como se tudo se desse ao acaso, ou como se tivesse um
espírito iluminado, que tudo estivesse para acontecer. Esse filme saiu muito rápido, brotou um pouco como Memória da memória. Foram duas experiências que eu estava inteira, despojada de preconceitos, muito aberta. Por isso saiu tanto sentimento. É como se algo atravessasse, algo que estava escondido, como layers escondidos debaixo do filme, que perpassa todo o filme. Da mesma forma que acontece entre o sonho e o despertar. Como se chama esse estado?

Renan: Sonambulismo?
Paula: Isso, sonambulismo! Essa palavra é linda. Como se fosse um estado de sonambulismo, sem saber para onde eu iria. Algo meio labiríntico, né? Tem uma coisa da repetição, porque tem acontecido muito. Tenho achado que estou ficando repetitiva até falando, que repito a mesma palavra. Isso vai se tornando hipnótico, né? O filme tem essa beleza de conduzir um discurso em um estado de consciência que você não tem. Não vou usar a palavra “transe”, porque vão dizer que estou falando de fenômenos associados ao Glauber. São fenômenos mais delicados, do feminino. Fico pensando que não é tão fácil, porque todos nós temos uma mãe e falar da mãe é falar do interior de nós. É também falar do ventre, da voz da mãe, desde que estávamos no líquido amniótico, na placenta. Falar da subjetividade, da intuição, do desejo, de todas essas camadas da mulher e da memória. É mais ou menos isso que sinto, são processos muito diferentes.
O canto das amapolas (2023)
Dramaturgias esculturais:
uma conversa com Paula Gaitán
Marcelo Miranda e Pedro Henrique Ferreira
No penúltimo dia da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em 27/1/2023, os editores da Abismu, Marcelo Miranda e Pedro Henrique Ferreira, sentaram-se numa padaria com a cineasta Paula Gaitán para uma conversa sobre O canto das amapolas, um de seus novos filmes, exibido na seção Olhos Livres. O filme saiu premiado pelo Júri Jovem com o Troféu Carlos Reichenbach. Na conversa, Gaitán, uma das artistas mais completas, instigantes e talentosas da produção audiovisual latino-americana, fala ainda sobre seus processos de trabalho e como pensa a realização de cada filme.
Marcelo: De imediato posso dizer que O canto das amapolas me remeteu em vários momentos ao Diário de Sintra.
Paula: Sério?
Marcelo: Me refiro a alguns elementos. Memória, vida, afetividades. Um tinha Glauber (Rocha), tinha sua estadia em Portugal, esse tem sua mãe, a vida dela, a arte. Olhar para trás e reconfigurar aquelas coisas pela memória, pela imagem, pelos sons.

Paula: São experiências tão diferentes. Claro, eu gosto muito de Diário de Sintra, de uma experiência familiar, da relação com a memória. Mas lá trabalho muito a ideia da memória involuntária. E lá eu conecto os materiais de arquivo. No Canto das Amapolas o único material de arquivo é o material sonoro. E tem uma distância de ter feito aqueles materiais de Super-8 em 1981 e regressar em 2007, quando voltava a Lisboa, e nisso são os mesmos dispositivos de fato. Mas no Diário de Sintra as fotos são mais instalativas, na água, nas árvores, há relação com a natureza. E levo fotos do Glauber e coloco nas mãos de pessoas das regiões onde eu vou, e aí elas tentam identificar a imagem do Glauber, um pensa que é um camponês, outro pensa que ele é um ator de cinema… Dar um novo sentido, multiplicar essa ideia do Glauber na reconstrução de uma nova ficção. Aquela casa onde se diz que era nossa casa não era, toda aquela sequência que eu vou subindo as escadas e que tem a voz do Glauber falando um monte de coisa em espanhol sobre marxismo, e a câmera entra… Cara, tô lembrando, há muito tempo não pensava nisso, a câmera vai pelo quarto como se fosse a casa da gente. Então aí tem “fake news” (risos), tem uma coisa que não importa se é a mesma casa, não se trata disso. É um filme através do Glauber, mas fica mais próximo da memória involuntária que fala mais de mim que do Glauber, né? Em O canto das amapolas o movimento é outro. De fato, as fotos têm sido permanentes nos meus outros filmes, uma coisa meio obsessiva de trabalhar com esse dispositivo. Eu acho que O canto das amapolas tem mais diálogo com Vida, meu filme com a Maria Gladys, com a questão, por exemplo, de identificar, dentro de um espaço circunscrito a um apartamento, alguns pontos, como cortinas, janelas, que vão servir de narrativa. Não vejo filmes em relação ao tema, vejo muito mais através dos dispositivos e através do que me interessa que seja protagonista do filme. Para mim, os espaços são tão importantes quanto os humanos. As janelas, os vazios, as fotos… E ali [no Canto das Amapolas] foi o apartamento onde eu vivi na Alemanha. Quando eu fui para a residência, eu levei um punhado
de fotos da minha mãe. De fato, existiu uma intenção de fazer alguma coisa com a minha mãe, que morreu durante a pandemia, e eu não pude enterrá-la. Mas isso eu não falo no filme, ia parecer que tô pedindo pro público aderir, mas o filme não está interessado nisso e eu não trabalho nessa lógica. Falo que é uma conversação com minha mãe, mas evidentemente algo aconteceu nesse meio-tempo. Eu queria ouvir a voz da minha mãe, foi o primeiro movimento meu para o filme. Isso era material de arquivo, são dois materiais de momentos diferentes. Um, que ela mesma diz que eu tinha 52 anos (na verdade eu tinha 54, mas ela queria diminuir também a ideia dela). Eu gravei com o celular, quando estava na Alemanha eu não tinha esses planos que aparecem no filme, tudo foi filmado no ano passado [2022], absolutamente tudo, inclusive as imagens em Super-8. As fotos eu fiz todas com essa “camarinha” [segura uma pequena câmera fotográfica nas mãos] de 30 euros e um negativo. Exceto as fotos [antigas] que aparecem no álbum da minha mãe, claro. Eu usei o material integral, com todos os fora de foco, as interrupções, os acidentes, não tem manipulação nenhuma, nem mesmo os azuis do final do filme, o material veio daquele jeito, houve um erro e não manipulei. Então essa relação com o material é bem diferente do Diário de Sintra. Lá eu conectava os materiais por associação num exercício mais apolíneo e delicado, enquanto aqui no Canto das Amapolas não tem nenhum tipo de rigor na manipulação, é uma coisa mais brutal, com outro procedimento. É interessante que a minha mãe, num certo momento, fala do [Jackson] Pollock, da questão do “action painting”, e o filme sugere uma atitude mesmo mais brutal com os materiais e um aproveitamento do momento, de um cinema direto, de verdade.
Pedro: Então teve muita coisa que você filmou sem saber necessariamente se ia entrar no filme.
Paula: Tudo. Tudo, tudo. Eu pensei como filmaria, mas não defini qual plano usaria no filme. Filmei 50 planos das cortinas sem
saber qual entraria, obviamente tinha alguns pontos do espaço que eu estava investigando, mas nunca um determinado plano, as escolhas se davam na montagem. Para a sequência das papoulas, eu saí para caminhar e de repente passamos por aquele lugar, a equipe foi filmar e obviamente eu sabia que ia entrar em algum filme [risos]. E é tudo muito fugidio, muito rápido, é mesmo um ‘cinema realité’ [risos], um filme como O canto das amapolas tem a materialidade daqueles registros, como se fosse uma escultura de placa de ferro, seguindo a minha lógica. Existe dramaturgia nesse método, que é a dramaturgia do momento. E quando filmo, eu de certa maneira já estou montando, só não sei exatamente… No caso de O canto das amapolas tudo que vinha da casa, aqueles objetos inanimados, ia modular o filme e ganhar algum movimento a partir do personagem da Betina. Tem momentos, então, que foram acasos do destino e outros mais planejados.
Pedro: Fiquei pensando no numa questão multicontinental que eu acho que tem em O canto das amapolas e em outros filmes seus. Luz nos trópicos, por exemplo, tem espaços multicontinentais e multilinguísticos.
Paula: Eu sinto que a sonoridade do texto era interessante, em O canto das amapolas, é um texto do (filósofo alemão) Friedrich Hölderlin. Como esse filme foi feito na Alemanha, eu pensei que poderia ter um público alemão. E na hora da tradução para o português, eu achei que a incompreensão do dito ali, depois daquela longa conversa sobre idiomas, linguagem, as diferenças sutis entre o alemão e íidiche e o hebreu, e a insistência minha de entender essa sutileza… durante todo o filme a Dina fala de incomunicabilidade ou da errância pela linguagem, por causa dos territórios ocupados. Foi uma decisão estética mesmo, de deixar esse texto como camada sonora, na qual a gente não tem acesso, nem eu. Ela fala, por exemplo, do meu avô, que ele era de uma região que foi ocupada e dividida, e ele falava alemão, e ela se surpreende
quando eu digo que não sabia (risos). Isso é fantástico, porque de fato é uma discussão sobre o não-saber. Sinto que muitas coisas que ela conta no filme eu continuo não entendendo, é muito louco isso. A questão de ir pra uma coisa mais hermética, aquela discussão sobre som, está ali, cru, não precisa de mais tradução.
Marcelo: A certa altura do filme entra uma música do Bernard Herrmann, da trilha sonora de Um corpo que cai (Alfred Hitchcock, 1958).
Paula: Eu senti um certo receio de usar, por respeito, mas também achei que seria interessante. Foi uma decisão meio estranha, mas é assim, eu senti. Porque, de certa maneira, eu vou perseguindo minha mãe (como o personagem de James Stewart faz com a personagem de Kim Novak em Um corpo que cai na cena em que toca a música), eu persigo ela pela natureza morta do apartamento até chegar ao ápice do rosto dela. E ela fala muito da fuga da irmã, das histórias de terror que ela ouvia nos jogos lúdicos da irmã. Senti que essa música era também uma experiência de amor com minha mãe. Depois vem uma música judia nos créditos, e tem aquela do começo, do Béla Bartok. E tem uma música eletrônica da minha filha Maíra, que ela escreveu para as minhas mãos. As mãos são sempre personagens dos meus filmes, né, sempre tem uma mão minha, porque fica algo muito expressivo.
Marcelo: As misturas sonoras dos seus filmes são sempre muito inesperadas.
Paula: É… É um pouco irresponsável, né? [Risos].
Pedro: Uma provocação que você fez há pouco, de esconder no filme a perda da sua mãe, pra não apelar a isso e trabalhar os materiais a partir disso. Como você vê o seu filme ou, na verdade, o seu cinema, dentro dessa linhagem, desse panorama de trabalhos que eventualmente apelam para o sentimentalismo dos acontecimentos.
Paula: Eu tenho horror a esses filmes (apelativos). Horror, primeiro porque toda memória é antes de tudo uma ficção. Inclusive os filmes de entrevista. Aparentemente a pessoa está lá tentando reconstruir o passado, contando anedotas de alguém que se foi, mas é sempre aquilo que o entrevistado quer falar e que interessa a ele. É falar mais sobre ele do que sobre a pessoa que partiu, então é muito perigoso isso, né? Eu prefiro perambular, atravessar esses espaços de morte e vida de uma maneira mais sutil e mais pensando em como fazer a pessoa retornar à vida, renascer, que é o que eu faço com os materiais mortos, por exemplo, fotografias, objetos inanimados, pela fotografia, pelas imagens. Por exemplo, a sequência do mar, com o texto do Hölderlin, são frames depois cobertos pelos movimentos das mãos. Essas passagens do movimento para a imobilidade, isso me interessa muito, como se você pudesse retornar à vida. Os momentos da minha mãe no apartamento são como se ela de fato estivesse lá, eu sinto ela lá caminhando comigo, vendo as imagens, às vezes a presença vira um mistério. Muita gente acha que ela está ali comigo, tem gente que diz ‘é tão bonito quando ela caminha e abre a janela’, e eu digo que não é ela ali, sou eu. Então tem quem pense que as imagens subjetivas são materiais de arquivo que minha mãe filmou. É estranho, porque eu também senti essa ambiguidade fazendo o filme.
Marcelo: Tenho a impressão de que os seus filmes, se pensados em conjunto, têm três linhas mais preponderantes, e todas se misturam: uma linha ensaística-visual, que seriam seus trabalhos com as fotografias, a memória, a nostalgia, os arquivos; os filmes de perfis, que tratam artistas que você filma, como Maria Gladys, Negro Leo, Marcélia Cartaxo, Arto Lindsay, pessoas que você adota como seus personagens; e as ficções de cunho mais poético ou histórico. Isso faz algum sentido pra você na criação? Você muda a postura quando vai fazer um ou outro?
Paula: Não mudo. É o mesmo exercício, a dificuldade é a mesma, é sempre um laboratório de imagens. É algo que eu faço diariamente, não é uma coisa tipo ‘me torno editora’, ‘me torno diretora’. É como uma pintora num ateliê todos os dias, ou um escritor, que não pára. O cinema, por seus processos de produção serem tão difíceis e tomar muito mais tempo, faz você se distanciar da sua matéria de trabalho. Você fica muito tempo tentando encontrar recursos. Mas é uma produção imagética constante, de investigação de materiais com as imagens, de leitura, de pesquisa, de coletar sons… Tem, claro, um pensamento anterior para definir linhas de procedimento de estrutura, sinto que isso vem muito das artes plásticas, da instalação, de entender seu conceito e como articular. E tem a questão estética, de entender a cor, o enquadramento, a composição, e acho que isso eu domino muito bem. Numa boa, não é vaidade, mas isso eu sou craque, eu sinto essa facilidade, habilidade, segurança, eu sei o que vai funcionar trabalhando com os olhos. Sei exatamente o que eu quero. Digo, não é que eu sei, e sim eu entendo como funciona na câmera. É uma relação que estabeleço entre os espaços e a imagem. Meu corpo sente e faz uma espécie de coreografia com a câmera, é uma coisa que eu fui adquirindo habilidade. Sei me equilibrar, sei respirar, sei entender quando devo parar no plano.
Marcelo: Interessante porque isso ilustra muito bem justamente a diferença entre os filmes. A sua aproximação com cada material se dá nessa relação criada no momento de cada situação e o que faz sentido dentro daquele projeto.
Paula: Tem decisões que eu chamo de conceituais, que não vêm ao acaso. Algumas coisas eu improviso e entendo no momento, que é particular, ter algum controle e aproveitar as oportunidades, andar com uma câmera e saber que qualquer material de pesquisa poderá se tornar, em algum momento, um plano do filme.
Pedro: E estruturas de produção, como são as diferenças nos seus filmes? Como você pensa trabalhar em projetos grandes, como Luz nos trópicos, que teve vários núcleos, e outros bem domésticos, como É rocha e rio, Negro Leo, mantendo a mesma unidade de trabalho de imagens.
Paula: Acho que eu deveria ter mais dinheiro para filmar projetos grandes porque eu faria muito bem, tenho projetos de ficção bem ambiciosos, coproduções com a Colômbia e tudo isso. Tenho lido o Edouard Glissant, filósofo da Martinica, e quero fazer um filme naquela região, onde meu pai morreu, num acidente aéreo. Tem existido um movimento intelectual contemporâneo muito forte de arte nessa região. E comecei a ler muito o Glissant, que é um nome lindo, né, significa “deslizar”. E ele tem um texto que fala do “pensamento arquipélago”, que já estava no Luz nos trópicos, que trata de vários espaços simultaneamente e como você passa de um espaço geográfico a outro. Eu tenho muita vontade de continuar esses projetos que conectam geografias distantes.
Mereceria ter uma produtora interessante, inteligente, para essa pesquisa. Talvez na Colômbia haja essa possibilidade, eu sou colombiana também e foi um lugar onde retornei no ano passado e meu nome ficou mais evidente. Porque é isso, sabe, sou estrangeira aqui no Brasil, sou estrangeira na Colômbia, sou estrangeira na França… Eu ainda me penso como uma diretora que conquiste um espaço internacional, não desisti disso. Porque acho que eu mereço e tenho as habilidades possíveis. Lembro muito do Adirley Queirós falando que é muito confortável apontar ‘ah é latino-americano, é periférico, então fica aí’, mas a gente faz cinema desejando oferecer o máximo da nossa capacidade criativa em experiências que possam extrapolar fronteiras.
Marcelo: Você é uma diretora, cineasta, mulher, que já foi atriz, é escritora, roteirista, montadora, e está inserida num momento histórico brasileiro em que mais mulheres enfim estão atuando no
cinema. Imaginamos que você seja perguntada sobre isso constantemente, o que significa ser uma diretora no cenário do cinema brasileiro. E você sempre teve opiniões um pouco mais críticas nesse assunto.
Paula: É muito bonito ver isso, mulheres ocupando espaços, escrevendo críticas, dirigindo. Mas isso não basta, né? Ocupar espaços são atos poéticos que acompanham novas percepções do mundo, novos imaginários, e não adianta ter tanta ideologia e virem filmes conservadores. Nesse sentido é minha crítica: não adianta ser diretor ou diretora, que tenha toda uma série de questões politicamente corretas ou muita assertividade, quando os filmes vêm e são conservadores… O mais importante é o projeto em si, o que vai acontecer, como ele se manifesta. É natural, as mulheres que estão ocupando são extraordinárias, mas não deveria vir por tabelinha, ou fica muito burocrático, apenas. Isso no caso de mulheres. Em relação a cotas raciais, já acho muito diferente, há uma questão de lutas de classes e de regionalismo.

 Luz nos trópicos (2020)
Luz nos trópicos (2020)
SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo
Presidente do Conselho Regional
Abram Szajman
Diretor do Departamento Regional
Danilo Santos de Miranda
Superintendentes
Técnico-social Rosana Paulo da Cunha
Comunicação Social Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves
Administração Jackson Andrade de Matos
Assessoria Técnica e de Planejamento Marta Raquel Colabone
Consultoria Técnica Luiz Deoclécio Massaro Galina
Gerentes
Ação Cultural Érika Mourão Trindade Dutra
Artes Gráficas Rogério Ianelli
Centro de Produção Audiovisual Wagner Palazzi Perez
Estudos e Desenvolvimento João Paulo Leite Guadanucci
Sesc Digital Fernando Amodeo Tuacek
CineSesc Gilson Packer
Equipe Sesc
André Coelho Mendes Queiroz, Cecília de Nichile, Cesar Albornoz, Desiane Pereira da Silva, Gabriella Rocha, Giuliano Jorge Magalhães, Graziela Marcheti, Humberto Mota, João Cotrim, Karina Camargo
Leal Musumeci, Kelly Teixeira, Mariana Rosa, Regina Salete Gambini, Rodrigo Gerace, Simone Yunes, Solange dos Santos Alves Nascimento
Mostra Umbigo do sonho: o cinema de Paula Gaitán
Direção geral Paula Gaitán
Curadoria Ava Rocha
Produção Matheus Rufino
Pós-produção Brunno Schiavon/Estúdio Arco
Design visual Thiago Lacaz
Assessoria de imprensa Eliz Ferreira e Valéria Blanco/ Atti Comunicação
Equipe Aruac Filmes Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha, Margarida Serrano, Tárik Puggina, Cristiane Almeida
Catálogo
Organização Matheus Rufino, Paula Gaitán
Textos Ana Júlia Silvino, Bruno Carmelo, Cléber Eduardo, Fábio
Andrade, Francis Vogner dos Reis, Francisco Miguez, Juliana Costa, Juliano Gomes, Lorenna Rocha, Luan Santos, Marcelo Miranda, Pedro Henrique Ferreira, Rodrigo de Oliveira, Victor Guimarães
Edição e revisão Matheus Rufino
Projeto gráfico Thiago Lacaz
 Paula Gaitán e o diretor de arte Diogo Hayashi durante as filmagens de Exilados do vulcão (2013)
Paula Gaitán e o diretor de arte Diogo Hayashi durante as filmagens de Exilados do vulcão (2013)
realização
CineSesc

Rua Augusta 2075
São Paulo – SP
(11) 3087 0500
sescsp.org.br/cinesesc
