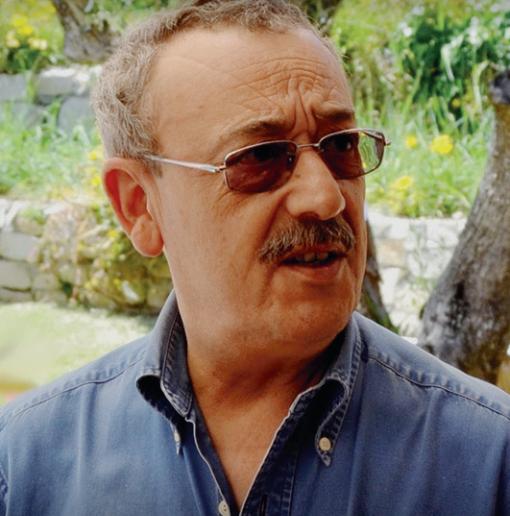36 minute read
Variaçõessobreummesmotema
TIPOS DE LEMES USADOS PELOS NAVIOS
A escolha do tipo de leme dependerá de factores como tamanho e tipo de navio (ou embarcação), formato da popa, tamanho e área necessária e se existe um hélice a montante do leme. Qualquer leme é constituído por duas partes principais: a porta e a madre. Sem pretender, com este artigo, entrar em considerações de índole técnica, apenas passo a apresentar os mais importantes tipos e conceitos deste órgão nuclear de qualquer veículo que se movimente sobre os espelhos líquidos, sejam eles rios, mares ou oceanos.
Advertisement
a) Tipos de leme convencionais (base) Digamos que estes tipos de arranjo de leme serão os mais prevalecentes, equipando a esmagadora maioria dos navios comerciais de longo curso. Podem ser compensados ou não-compensados e, quanto ao suporte, podem ser apoiados ou suspensos. Poderemos subdividi-los em três tipos mais comuns: i) O leme ordinário (não compensado), cuja porta está, toda ela, por ré da madre, sendo suportado pelo cadaste. ii) Leme compensado –Um leme compensado é aquele no qual o seu eixo de rotação se encontra por ré do bordo frontal. Isso significa que, quando o leme é accionado, a pressão da água causada pelo movimento do navio através do espelho líquido actua sobre a parte dianteira, exercendo uma força que aumenta o ângulo de deflexão, neutralizando a pressão que actua na parte posterior, que contraria aquele ângulo. É normal a existência de um determinado grau de equilíbrio para evitar a instabilidade do leme, ou seja, a área ante-a-vante do eixo (madre) é menor do que a posterior. Isso permite que o leme seja accionado com menor esforço que o necessário para um leme não compensado. A relação entre as áreas a vante e a ré da madre chama-se grau de compensação e seu valor pode chegar a 1/3. Um leme de lâmina (ou suspenso) é, basicamente, uma porta de leme que está inteiramente suspensa pela parte superior, fixada por um eixo girante a
DE CIMA PARA BAIXO: Fig3: Leme ordinário –a porta fica por ante-a-ré da madre; é suportado pelo cadaste, por
meio das governaduras e, principalmente, pelo pino mais baixo; Fig4: O leme compensado foi inventado por Isambard Kingdom Brunel e usado pela primeira vez no SS “Great Britain”, lançado à água em 1843; Fig5: O leme de
lâmina actua como uma "lâmina de reacção"desviando o fluxo do hélice utilizando toda a sua área móvel; Fig6:
Quando a aresta de vante não se prolonga a toda a altura da porta, o leme toma o nome de semi-compensado.
Neste caso, apenas uma pequena parte da sua área, inferior a 20%, está por vante do eixo de viragem.
um ou mais mancais (anéis de suporte), dentro do casco. Por outras palavras, a madre do leme (ou o eixo do leme) não se prolonga ao longo da extensão do leme. Nos lemes de lâmina (que, na maioria, são compensados), a porta do leme está numa posição tal que 40% da sua área está por vante da madre e o restante por ré. iii) Leme semi-compensado –Quando a parte por ante-a-vante da madre não se estende em toda a altura da porta, o leme toma o nome de semi-compensado.
CIMA Fig7: Leme Flettner –Um conceito especial do
leme que utiliza duas abas estreitas na porta de leme. b)Tiposdelemeconvencionaisalterados Tendo por base os tipos de leme atrás apresentados, os estudiosos e os construtores navais foram-lhes adaptando novos conceitos em resposta às necessidades identificadas para determinados tipos de navios (e respectivas funções), portos e tráfegos. Essas alterações conceptuais resultaram na adição de apêndices, novos desenhos das portas e alteração de ângulos de ataque, etc. Embora os últimos 60 anos tenham sido muito profícuos na apresentação dessas inovações, passo a apresentar apenas as que maior êxito e utilização obtiveram. i) Lemes com abas ou alhetas Neste grupo podemos englobar o leme Flettner e o leme Becker, que receberam o nome dos seus inventores. Anton Flettner foi um engenheiro e inventor alemão com importantes contribuições para projectos de aviões, helicópteros, navios e automóveis. É, inclusivamente, o inventor das velas de rotor para navios e que estão hoje na ordem do dia. Flettner concebeu um leme que utiliza duas abas estreitas na borda traseira da porta, uma de cada lado. No sistema Flettner, existe um leme principal e um
BAIXO Fig8: Os lemes Becker Têm uma aba no seu bordo traseiro (como numa asa de avião) e que permite ao
leme ter maior viragem do que os convencionais 45º.
FUNDO Fig9: Lemes Schilling –Estes lemes podem ir aos 70° para BB ou EB sem avariar. Têm baixo custo e

manutenção, sendo um leme compensado que permite um navio dara volta no espaço do seu próprio comprimento. auxiliar, tendo este último uma superfície muito pequena em comparação com a anterior e agindo mais ou menos no leme principal da mesma forma que um leme comum actua no navio. O capitão Willi Becker fundou uma empresa de reparação e construção naval em 1946 para ajudar na reconstrução da frota fluvial alemã do Reno após a guerra. Tinha um foco muito pronunciado nas inovações técnicas para conseguir que os seus navios, rebocadores e barcaças se tornassem mais eficientes. À medida que as embarcações foram ficando maiores e experimentaram maior dificuldade de manobra nos limites do espaço confinado dos rios e canais, desenvolveu a “Becker Flap Rudder”, inspirada nos ailerons e flaps de aterragem dos aviões, para melhorar a sua manobrabilidade. O leme do tipo Becker tem uma aba móvel no bordo traseiro da sua porta. Quando o leme se move, um elo mecânico abre a “barbatana” num ângulo superior para maximizar o impulso lateral. Ângulos máximos de 45 graus ou 65 graus de leme podem ser utilizados em lemes maiores e mais rápidos. Estes lemes com alhetas móveis proporcionam um pronunciado ângulo de leme, com um efeito de viragem muito superior, atingindo os 60% a 70% a mais, em comparação com um leme convencional do mesmo tipo, forma, tamanho e área. São indicados para navios e embarcações que exigem melhor manobrabilidade. Estas abas são controladas de forma independente e melhoram a capacidade de governo quando activadas, sem aumentar a força de arrasto devido ao maior ângulo de leme. ii) Leme de Schilling, também leme de cauda de peixe No leme de tipo Schilling, não há alheta, mas o bordo traseiro é construído em forma de cauda de peixe, o que acelera o fluxo e recupera a sustentação sobre
a secção traseira do leme. Com ângulos de operação de até 70 graus, o leme Shilling melhora, drasticamente, as características de manutenção do rumo e o controlo da manobra do navio. Englobado neste conceito, surge uma variante denominada Schilling VecTwin, no qual duas portas de leme operam, de forma independente, por ré de um único hélice. Isso permite o controlo total do impulso do hélice. Muito utilizado em navios e embarcações costeiras e fluviais.
c) Lemes assimétricos As portas de leme assimétricas têm resultado do conhecimento desenvolvido através de modelação computacional e têm conseguido uma enorme revolução, não só nas técnicas de construção, como ainda têm permitido enormes avanços no desempenho dos propulsores, diminuição dos consumos e cavitação e, ainda, no desempenho de manobra dos navios. Basicamente, configuram três modelos principais, adequados para grandes navios portacontentores; i) Leme de duplo bordo de ataque (leme Z) Consta de um arranjo do leme em que a metade superior da porta é ligeiramente torcida para um bordo e a metade inferior para outro bordo. Ao contrário dos lemes simétricos convencionais, o leme de duplo bordo varia a bombordo e a estibordo o ângulo de ataque ao longo da pá do leme. Esse recurso resulta numa distribuição de pressão melhorada na superfície do leme a partir do fluxo rotacional do hélice, melhorando, assim, as qualidades de resistência, manobrabilidade e cavitação. ii) Leme de duplo bordo de ataque com bolbo (leme ZB) Muito idêntica a anterior, difere dela pela presença de um apêndice (bolbo) acoplado no seu bordo de ataque. O vórtice do cubo gerado na saliência do hélice desperdiça energia. O bolbo no leme reduz essa perda, enfra
DE CIMA PARA BAIXO Fig10: O leme assimétrico foi

projectado para melhorar a hidrodinâmica, o
alinhamento da água a montante e a propulsão do
navio, precavendo a formação de turbilhão. Fig11: O
bolbo colocado no bordo de ataque do leme, ao
absorver o vórtice provocado pelo cubo do hélice,
melhora a eficiência de propulsão e baixa o risco de
cavitação. Fig12: Leme com a porta completamente
torcionada para configurar o ângulo de ataque
corresponder ao padrão real do fluxo de água.. e
quecendo o efeito de vórtice provocado pelo cubo e neutraliza a diferença de velocidades do fluxo de entrada no leme. Teoricamente, quanto menor a diferença entre o cubo do hélice e o bolbo do leme, melhor o resultado. iii) Bordo principal de torção completa Digamos que toda a superfície da porta do leme se encontra “torcida”, tentando aproveitar todo o fluxo de água proveniente do hélice, diminuindo a hipótese de vórtice. Isto resulta numa redução da cavitação, que se traduz na menor erosão do leme, menor arrasto, maior capacidade de giração e ruído reduzido. Esta porta do leme acaba por ser de menores dimensões que as convencionais, mas consegue melhores desempenhos. Pode ser acrescentada com o bolbo. Aos dois primeiros conceitos podem, ainda, ser acopladas alhetas (abas) para melhorar o desempenho a menores velocidades e em águas confinadas. São conhecidos por lemes “Z+F”ou “ZB+F”.
CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO
SABEDORIA DO MAR
E AGORA... QUE ESPERAR PARA O SEGMENTO DO MAR
ALBERTO FONTES
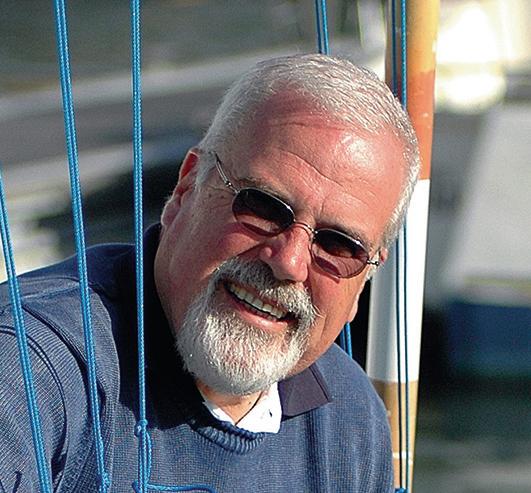
A Marinha de Comércio Mundial tem cerca de um milhão de pessoas a trabalhar embarcadas. O seu papel na cadeia global do comércio é indispensável, malgrado todas as tentativas de robotização em curso. Nunca se assistiu em todo o mundo a tão gritante indiferença por estes esquecidos marítimos que com o coronavírus se viram abandonados a bordo dos navios, sem que os seus armadores consigam garantir o seu repatriamento no final dos contratos. A suspensão do tráfego aéreo, o fecho de fronteiras e o impedimento para desembarcarem nos portos que eventualmente aos navios lhes permitiam escalas comerciais ou para abastecer combustível, tornaram os tripulantes prisioneiros a bordo. Com o coronavírus, o stress aumentou e conduziu muitas vezes a casos de depressão e ataques de ansiedade. Os tripulantes têm medo de apanhar a doença, preocupam-se com a família em casa, têm medo de serem contaminados por qualquer pessoa de terra que vem a bordo, quando o navio está em operação portuária. Globalmente a sociedade exige que as mercadorias circulem mas, ao contrário do pessoal de saúde, dos policias e dos militares, ninguém se preocupa com o pessoal do mar. Quanto mais tempo dura a pandemia, quanto mais prolongados são os contratos, mais probabilidade existe de se desenvolver uma síndrome de fadiga crónica e com ela os acidentes a bordo ou mesmo acidentes no mar. A IMO –Organização das Nações Unidas para o Mar, consciente de tudo isto, vem propondo aos Estados uma concertação por forma a resolver este problema humanitário, numa colaboração entre os estados de bandeira, os serviços de imigração, os serviços de saúde das autoridades portuárias, para que os marítimos sejam considerados trabalhadores essenciais, de forma a ser encontrado um acordo para garantir as rendições das tripulações, tudo pela sobrevivência do transporte marítimo. Estados houve que em resposta à IMO, implementaram medidas, de tal forma complexas, burocráticas e com custos elevados que não trouxeram soluções; a esmagadora maioria dos Estados não fizeram praticamente nada, tendo ainda intensificado as inspecções aos navios parados nos seus portos. Daí resultaram detenções dos navios por incumprimento da MLC –Convenção do Trabalho Marítimo nomeadamente por existirem contratos de trabalho expirados, com marítimos embarcados há mais de um ano. Se este problema ainda vai sendo noticiado, pela sua enorme dimensão, com os grandes navios de cruzeiro, passa completamente ignorado, na generalidade dos navios de carga, onde até os tripulantes são impedidos de ir a terra. Uma excepção a
considerar, neste vergonhoso panorama global, veio de Singapura que aprovou até junho a rendição de 40 000 tripulantes. Com marítimos a sofrerem a bordo, sem saberem a duração dos embarques, de forma global há reflexos físicos e mentais, neles e nas suas famílias, num contexto nunca visto na história recente. Tempos de medo em que a economia se ressentiu enormemente, com a paralisação do comércio, o encerramento das fronteiras, com reflexo imediato no movimento de pessoas e das mercadorias. Às empresas é agora exigido mudanças, na forma de trabalhar, além de terem de se adaptar à nova realidade, ou morrerem. No novo paradigma da gestão, cabe agora o teletrabalho para operarem remotamente em que a segurança adquire um novo significado, numa nova dimensão que aconverte naprioridade absoluta, para um baixo risco, numa necessidade de transformação e reinvenção em tempo recorde. No sector das pescas os impactos socioeconómicos do Covid-19 centram-se no preço do pescado em lota, na perda de compradores, na diminuição do volume de capturas, nas restrições logísticas, nos custos de transporte e nas dificuldades em relação às tripulações. As pescas em Portugal empregam directamente 14 617 pescadores devendo ainda contar 8 101 trabalhadores nas transformadoras dos produtos da pesca. No nosso país não se tratam bem estes profissionais que tantas vezes socorreram com a pesca, as necessidades alimentares das nossas populações. O homem do mar é por regra alvo de abandono por parte das autoridades que regem o sector. O mar é sinónimo de aventura e os seus trabalhadores considerados desfasados da realidade civilizacional actual, sendo a sua actividade profissional, um último recurso remuneratório. Esta situação que deveria envergonhar todos aqueles que de há muito falam e executam as políticas para o mar, como um motor do desenvolvimento da máquina produtiva nacional, quando abandonam o sector, nunca são penalizados por, no seu exercício, terem obtido tão maus e irresponsáveis resultados.

Que esperança poderá haver, em todos aqueles que resistem nas actividades do mar, nas pescas ou nos transportes marítimos, nos agora políticos, que vão ter a responsabilidade em gerir os fundos de recuperação estimulados pelo coronavírus? Será que irão compensar os erros do passado, criando estímulos à livre iniciativa, atraindo jovens para uma renovação geracional? Como ainda estamos a braços com a crise sanitária, para a qual não existe hoje, nem vacina nem remédio, vamos ter de continuar a lutar por uma economia sustentável que traga a Portugal bem-estar e desenvolvimento social. Diz-nos a história que o país só o conseguiu, quando foi GRANDE no MAR.
A PROPÓSITO DA DIÁSPORA DOS ÍLHAVOS, NO LITORAL
-- do blog Marintimidades
Ílhavo e a sua região de que tanto se fala como centro difusor de cultura marítima terão deixado, por via directa ou indirecta marcas na cultura marítima do nosso litoral. Habituámo-nos desde cedo, quando visitámos zonas marítimas, para pesquisa etno-linguística, desde estudante universitária, a ouvir tecer algumas considerações relativas a Ílhavo e aos habitantes locais, mal se apercebiam que era oriunda da citada região. E começámos a capacitar-nos de que onde existia uma bateira existiu um ílhavo ou há vestígios, pelo menos, da passagem de um ílhavo. Cremos mesmo que por Ílhavo tem havido um interesse crescente pela grande faina dos ílhavos no litoral, não tendo tido a exposição temporária, «A Diáspora dos ílhavos», no MMI, de 8 de Agosto de a 31 de Outubro de 2007 a aceitação desejada pela maioria dos interessados nesta grande questão da identidade local. Virando costas à Laguna, por inóspita que estava, os ílhavos, com suas artes ainda algo rudimentares, fixaram-se junto ao mar. Aberta definitivamente a barra em 1808, vieram instalar-se no areal a que chamaram Costa Nova (arrais Luís Barreto, igualmente conhecido por Luís da Bernarda) com as companhas da xávega. Tão exímios se tornaram no manejo destas artes estes emigrantes da borda do mar, refere Senos da Fonseca, que o desejo de partir em busca de locais onde o peixe fosse mais abundante se tornou evidente (Ílhavo –Ensaio Monográfico –Séc. X ao Séc. XX, 2007, Papiro Editora. Porto, 2007, pp. 174 a 181). A fundação da Cova e Gala por ílhavos tem-se apresentado um caso mais polémico, porque se tem baseado, de livro em livro, em afirmações não confirmadas por registos paroquiais estudados ultimamente pelo pesquisador Hermínio de Freitas Nunes. A presença ou a passagem de ílhavos por Palheiros de Mira, também Raquel Soeiro de Brito a comprovou (Palheiros de Mira –Formação e declínio de um aglomerado de pescadores. Edição Facsimilada, Cemar. Praia de Mira, 2009, pp. 21 e 36), ao consultar Registos Paroquiais, concluindo que entre 1835 e 1870 as populações originárias de Ílhavo foram as que mais contribuíram para a formação do povoado. Mas a sua característica de nómadas da beira-mar fez com que não parassem. Pela Nazaré também andaram, tendo contribuído para a sua formação. Na pequena monografia Nazaré e o seu concelho, Raúl de Carvalho, (Lisboa, 1966, p. 21), depois de algumas alusões aos pescadores de Ílhavo, referencia que estes, após terem abandonado as suas terras, em busca de melhor vida e mais fartura de peixe, constituíram os primitivos povoadores da Nazaré. E Raúl Brandão, no capítulo dedicado à Nazaré de Os Pescadores (Edições Estúdios Cor, Lda. Lisboa, s.d., p. 160), afirma pela boca de Joaquim Lobo, que aquela gente viera de Ílhavo e recorda ainda que foram os cagaréus que povoaram os melhores e mais piscosos pontos da costa, vindo pelo litoral abaixo, aos dois e três barquinhos juntos, até ao Algarve. Também tivemos conhecimento da influência que os referidos povos exerceram na Ericeira, visto que Joana Lopes Alves, ao ocupar-se da rede do linguado ou tresmalho, assegura ter sido trazida para a Ericeira pelos pescadores da Murtosa, que a usavam na sua terra (A linguagem dos pescadores da Ericeira. Junta Distrital de Lisboa. Lisboa, 1965, p. 57). Mas não ficaram por aí. Também na
ANAMARIALOPES
Costa da Caparica, associando as pescas estivais de mar a fainas invernosas em rios e estuários, os ílhavos aí se instalam por volta de 1770, sendo referido por Helena e Paulo Nuno Lopes (A Safra. Livros Horizonte, Lda. 1995, p. 57), que no final do séc. XIX, trabalharam na Caparica, na pesca, mais de setecentas pessoas. Igualmente Maria Alfreda Cruz ao ocupar-se do tresmalho, certifica que é conhecido, em Sesimbra, por «redes de ílhavos» designação que denuncia a sua proveniência (Pesca e Pescadores em Sesimbra. Centro de estudos Geográficos. Lisboa, 1966, p. 54). Também por finais do século XIX, continuam a referir Helena e Paulo Nuno Lopes (ob. cit., p. 57) que os pescadores de Ílhavo chegam à costa alentejana, para aí trazendo as suas famílias, tendo vivido aí, em inícios do século XX, quarenta famílias. Todos os anos chegam ao Tejo umas dezenas de barcos varinos –é o nome que dão a estas embarcações pequenas e rasteiras, com um mastro e proa levantada (…). Quando se levanta borrasca encalham o barco nas margens do rio e abrigam-se à proa, debaixo de um oleado encerado (não haverá aqui hábitos idênticos?), onde dormem, cozinham e consertam as redes. Também emigram para o Tejo barcos «ílhavos», que são maiores e andam à pesca da sardinha entre o cabo da Roca e o Cabo
Pescadores de Ílhavo. Meados do século XIX

Colecção Palhares. MMI
Espichel. E há muitos pescadores da Vieira que vão para os campos de Vila Franca e Santarém pescar o sável. Os da Borda-d’água chamam-lhes «avieiros» –ascendentes que ficariam a viver nos seus barcos até ao último quartel do século XX. Francisco Oneto Nunes (Vieira de Leiria –A História, o Trabalho, a Cultura. Edição da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, 1993, p.174), baseando-se na informação recolhida nos registos paroquiais da freguesia de Vieira de Leiria refere que desde 1911 até 1933, os livros de registos de óbitos indicam o falecimento de 19 indivíduos já de idade avançada, cujos pais eram naturais de Ílhavo, Mira, Tocha, Quiaios, Figueira da Foz e Lavos. Oneto Nunes sublinha a existência, em 1790, de dois barcos de pesca, que habitualmente costumavam pescar nas costas de S. Jacinto, de fins de Junho até Fevereiro, e que seguiam depois para o Tejo. Parece que a ida, se bem que temporária de ílhavos para o Tejo, começa a ser incontestável, porque registada por alguns documentos e estudiosos. Também fomos recolhendo alguns testemunhos orais. Ao entrevistarmos, nos anos 80 do século passado, na Murtosa, Joaquim Maria Henriques (Raimundo), construtor famoso de embarcações lagunares, aí nascido em 1909, testemunhou-nos que «algumas vezes se deslocara com o pai a Peniche, Setúbal, Alcácer do Sal, Vila Franca de Xira, Carregado e Salvaterra de Magos para a construção de bateiras que os murtoseiros utilizavam, quando para esses locais iam fazer a safra do sável». Também A. A. Baldaque da Silva, a quem é atribuída uma pesquisa extremamente criteriosa em 1886 (Estado Actual das Pescas em Portugal –A Pesca Marítima, Fluvial e Lacustre em Todo o Continente do Reino, referido ao ano de 1886. Lisboa, Imprensa Nacional, 1891, pp. 197, 240, 241, 287 e 403), faz inúmeras referências ao carácter emigrante dos povos da região da Murtosa, Ílhavo e Aveiro. Ao ocupar-se da rede sardinheira, afirma que os pescadores ílhavos que emigraram para Setúbal, lá usaram uma sardinheira (rede de emalhar sardinha), de menores dimensões. Averiguou também em inquérito directo a que procedeu que trinta barcos ílhavos, tripulados por 450 homens, depois da pesca costeira à tarrafa, iam pelo rio acima para a pesca do sável. Eram também os pescadores ílhavos que emigravam para a enseada entre os cabos da Roca e Espichel e aí usavam, nuns barcos com o seu próprio nome, a rede de cerco volante, designada por tarrafa. Sobre este barco ílhavo (também conhecido por bateira ílhava), refere-nos que era um barco de fundo chato, construído nas margens da ria de Aveiro, com um compartimento fechado à proa, para abrigo de parte da tripulação, com mastro a meio, aparelhando vela latina de pendão, navegando mais vulgarmente a remos, movidos por três a quatro homens. Empregam-se muito na pesca da sardinha, na enseada de Entre cabos da Roca e de Espichel, durante o inverno, usando a tal rede denominada tarrafa. É, no entanto, o tresmalho (rede de emalhar formada por três redes sobrepostas) a rede mais difundida pelos ílhavos, que em grande número emigraram durante a época do sável para o Douro, Tejo e Sado, continua Baldaque da Silva. Todas estas citações elencadas não pretendem ser mais do que um ponto de reflexão. Ainda há bem pouco tempo, ao abordarmos o livro Canoas do Tejo de Luís Sande e Pedro Yglesias de Oliveira (Edição da Câmara Municipal de Cascais, 2009, p. 92), achámos curioso o parágrafo que passamos a transcrever –As bateiras são embarcações pequenas, com cerca de cinco a seis metros, com uma construção muito simples, que foram introduzidas no Tejo pelos avieiros, ou cagaréus como eram conhecidos, que eram comunidades que vieram da zona de Aveiro e se instalaram nas margens do Tejo. Viviam em pequenas casas palafíticas, construídas em cima de estacas e nas próprias bateiras. Ainda hoje existem avieiros a viverem nestas condições e a pescar em embarcações que não têm sequer motor auxiliar.
E assim se foram expandindo os ílhavos…os ditos colonizadores da areia… –tínhamos por cá estas notas… outros terão outras… e documentos, para enriquecer o caudal da diáspora dos ílhavos.
LENDADATERRA DALÂMPADA

SENOS DA FONSECA
Há muitos… muitos anos, tantos que já ninguém o sabe ao certo, quando(?), «aconteceu» em Ílhavo uma história que virou lenda.
Era uma vez… uma Terra que em menina foi surrada pelo mar que lhe surriava os pés. E que depois, já crescida, viu aquele amainar aprisionado pelos braços da sereia lagunar. O mar foi empurrado para longe, obrigando as suas gentes, pescadores da borda, a atravessar o prado já então a revessar de verde que se estendia, qual tapete macio, para os levar à Costa Nova em demanda da sardinha. Que, diziam, tal como a mulher, se quer rechonchuda e pequenina. Como todo o «gentio» do mar, pescadores ou mareantes, sempre os «ílhavos» foram mais tementes a Deus que a esse «cão» danado –o mar! –que por vezes amuado de tanta ousadia, enraivado, ronronava ameaçador, em ondas espúmeas ao embater contra os frágeis barquitos em que aqueles ganhavam o pão para os seus. Era nesses momentos dantescos que o arrais Ançã lhe gritava: «Ah!... danado, se fosses d’aguardente bebia-te só de um trago!». E o certo, conta-se, logo o mar parecendo amedrontado com o desafio do arrais gigante, alquebrava e, às arrecuas, tolhido, desembestava a tramontana e serenava. Mas com Deus não se brinca, ou ofende. E os «ílhavos», criaturas de fé devota, muito embora confiassem nos «seus arrais» –que não havia outros de tal «igualha» por essa costa abaixo –quando chegados os momentos de aflição faziam as suas promessas ao S. Pedro, orago da sua devoção, que na Igreja da santa terrinha, no altar, atento, velava pelas suas vidas. Acreditavam. Apesar da Vila ser, naqueles tempos idos, aconchegada e pequena, era escufenada, tendo já desde os nossos primeiros Reis uma igreja REAL. Vistosa e imponente, que lhe conferia merecido destaque nas redondezas. Os pescadores e famílias, principalmente o «mulherio», era gentio muito religioso, comparecendo diariamente à missa pelas matinas, levando consigo uma esmola que entregavam às Almas para protecção dos seus. Esta Igreja desde muito cedo passou a ser das mais importantes e mais ricas de toda a região de Aveiro, exibindo valiosas imagens de Santos de terracota. Adornada de ricas alfaias de ourivesaria, muito faladas e, por isso, também, muito cobiçadas. De tal modo que, aquando das invasões Franceses, os soldados do General Junot a esbulharam das suas riquezas para assim recomporem o cofre da estranja, já depauperado. Conta-se então, que só uma rica «Custódia» de ouro de lei –que hoje ainda existe –e uma valiosíssima Lâmpada (vistoso e artístico candeeiro de prata que descia do tecto alumiando bruxeleante a capela do Santíssimo) se salvaram. Porque um tal Malaquias –O Raposo –, antecipando-se à soldadesca francesa, as encapotou na batina, levando-as consigo, e as enterrou. Só passados muitos anos, vendo que o perigo, tinha então já passado, resolveu desenterrá-las para as entregar ao Prior, que, muito agradecido pela esperteza do acólito, logo mandou preparar grande festa para celebrar o acontecimento do retorno das valiosas peças, Festança com direito a pregão prodigamente trombeteado pelos párocos das redondezas, que do alto dos seus púlpitos prometiam foguetório de arromba e procissão solene que fosse testemunha da virtude da hora. A que não faltaria o ignito dominicário frei Elias, cuja voz tonante faria ribombar os Evangelhos, mailas ameaças da Santa Inquisição, alevantando abundosas tremuras em todos aqueles que, pecando, tresmalhados, andariam mais perto de trambolhão no caldeiro onde frigiam as almas penadas do que no azul celeste do paraíso –promessa habitual do sermonário –por onde ricos e pobres se passeiam, irmanados (como se tal fosse possível?) na dádiva de graças ao altíssimo. Vá-se lá acreditar. Mas nestas coisas do alto mais vale precaver do que ver. Tanto alvoroço faria acorrer à Vila gentiaga estranja para render tributo aos tesouros que voltavam a arejo, para regalo dos fiéis, crentes. Que se iam aboletando por toda a vila em palheiro de compadre, de amigo ou de simples conhecido. Tudo gente de boa crença e fulanagem. Andara o povo em grande folgança a doidejar, havia já três dias, com visita obrigatória à esprândiga Igreja que, aperaltada com vestes de gala, mostrava, envaidada, as relíquias, a quantos as quisessem admirar: –um ror de gente! No final da festarola, era já segundafeira, dia para estas gentes voltarem à labuta diária depois de reconfortados com a missa da madrugada, ainda os galos cucuritavam nos poleiros, na Igreja restavam abusacadas apenas algumas beatas. Que ouvida (?!) a missa, ali ficaram a fazer as suas rezas. E assim palrando esperavam pela missa seguinte, a da manhã. Que «duas sempre reconfortavam mais do que uma só». Como eram mulheres de palanfrório, daquelas que todas as tardinhas vinham ao «rebate» contar as «últimas», apro-
veitavam aqueles momentos para pôr a conversa em dia, pois que a festança as afastara daquele convívio diário da má língua, onde as bocas baladeiras falavam «disto e daquilo… desta ou daquela: –de toda a gente do sítio! O tempo dava para isso. Era tanto que ainda crescia para rezar um pai nosso e três avé marias». –Oi… chopa!–olha para quem entrou… –disse às tantas a Maria Calatró da Malhada, interrompendo a conversa, virando-se para a Josefa do Arnal que ali estava engrunhada, encapuchada no xaile de burel que lhe cobria a cabeça, como se o frio da manhã a tivesse entorpecido. Ao tempo em que indicava dois indivíduos, que, de escada na mão, com umas cordas aos ombros, tinham entrado na Igreja. Onde ainda, apenas, a luz mortiça das velas e as das lamparinas da majestosa Lâmpada, quebravam o negrume. Tinham parado debaixo da mesma assumindo um ar de consternação e espanto, dizendo em voz alta, um para o outro, mas de modo a que as «beatas» ouvissem: –Ora vai-te… que raio de negócio fizemos… Quem é que a há-de limpar por semelhante preço?!… dizia o mais baixote, parecendo arrependido com o negócio. Logo responde o outro: –Bem… já que justamos o preço, agora não há nada a fazer… Toca a baixá-la que se faz tarde… diz o outro, homem de barba cerrada, de aspeito desconfiado, olhar de aspe decidida a saltar sobre a presa. Ou fugir lesta, se inimigo se abeirasse. E se melhor o disse, mais rápido o fez: pondo mãos à obra subiu a escada e arriou a Lâmpada perante os olhares assarapolhados da Josefa e amigas, logo a metendo num saco. E dá de sair tranquilamente da igreja, de escada às costas… sobraçando ao ombro o saco onde restava a «lâmpada». –Estais a ver… «chopas», como o Senhor prior manda tratar das coisas da Igreja para esta luzir ?!… diz a Josefa Carqueja para a Cala
tró… E agora inda hás-de dizer que o «home» é um mancatufe que nem prás novenas serve. És uma mal «dizente»… raios! –que ainda hásde ir «estorricar» no fundão do inferno… «morrendas se não falendas» –VADE RETRO SATANÁS. Tocadas as sete badaladas da manhã, o Prior lá veio com o sacristão para rezar a segunda missa do dia. Vinha ofegante, o abade, face espaçosa onde ressaiam as bochechas avermelhadas que uns diziam ser do afã do ministério, mas que outras, maldosas, diziam ser fruto das barrigadas das caçoilas do carneiro avinhado. Ou de se alambazar –à farta! –com a chispalhada que servia de lastro às enguias de escabeche. Tudo regado por tinto corrido, vindo lá das bairradas, que lhe provocava aziumados borbotões. O cabeção manchado pelas manápulas pouco asseadas que tentavam aliviar o nó de enforcado, inchava-lhe o pescoço, exsudando-lhe os refegos que serviam de caneja para o suor que escorria para a sebada sotaina ruça. É então que a Calatró, alvoroçada e já desconfiada de tanto cuidado do prior, pois no seu entender “não era «arrais» p’ra tão grande barca”, lhe salta ao caminho e diz: –“Oh!... senhor Abade... tanta pressa para quê(?!) santo Deus…, a limpeza podia esperar mais um poiquinho, e acabar-se a festa com a nossa Lâmpada, cá!... –Que limpeza estás tu a dizer?..., oh mulher!… e de que Lâmpada… está para aí a falar?! resfolga o padre João dos Mártires. –A que o senhor Prior mandou «alimpar» –«hom’ essa»! –que estes olhos que o chão hão- -de comer, viu ali… E q’uinda agora a levaram ,a mando de V. Reverência»… responde a Calatró apontando para o tecto vazio da igreja. E foi então que o Prior olhou para o sítio onde era suposto estar a Lâmpada e, vendo-o vazio, de olhos esbugalhados, gritou:
–Ah! Ladrões. Ah cães que me roubaram… grita o aporrinhado abade, vermelho como um «pilado da praia» acto contínuo «arriando-se das pernas», caindo para o lado… a bufar em apoplético estertor. –Ide depressa buscar auga da benta… que o pobre homem vai-se… grita a Luísa dos Sete Carris para as restantes: –ao tempo em que amparava o desfalecido Abade nos seus braços de «pimpona pescadeira» . –Que vá… «olhendas»!… é como a Lâmpada, «assome-se» que é um ar que lhe deu… logo diz a Calatró que não perdoava ao Prior tê-la um dia mandado para casa onde, disse, “tinha mais que fazer que estar ali sentada no rebate da Igreja á espera da missa da madrugada”. E logo a Calatró, acrescenta : –q'uinté tenho mais pena da Lâmpada que do «corvo» que não faz falta aos filhos, que os não tem, referindo-se ao pobre abade que, pouco a pouco, depois de «rebaptizado» pela Josefa, começava a dar acordo de si. Uns gogolhões de cachaça que o sacrista tinha ido, lesto, buscar ao passal, acabaram por recomport o pobre diabo. –Ai!... filhas... diz a Luísa... desta vez nem o Raposo nos vale!!! Em Ílhavo, durante três dias, os sinos dobraram a finados por ordem do Prior João dos Mártires. Tantos... quantos os da festa. A Lâmpada –essa! –levada pelos larápios, levou um sumiço... Até hoje.

Já sabes: quando quiseres fazer corar de vergonha um «ílhavo», basta dizeres: –T'imbora homem... que és da Terra da Lâmpada... Mas olha!... segue um conselho: –foge da terra, não te vá acontecer ficares pendurado na borda... que a um «ílhavo» desembolado, nem o campino de «Garret», habituado a suster cornígeos brutos, consegue fazer peito...
NOTÍCIAS
SEQUESTROS DE TRIPULAÇÃO AUMENTAM NO GOLFO DA GUINÉ
- do blogue Mare Marinheiros, de António Costa

Ataques violentos contra navios e respetivas tripulações aumentaram em 2020, com 77 marítimos reféns ou A empresa de propriedade da Carnival transferidos para uma empresa em agosto, enquanto os da classe R,
sequestrados para resgate desde janeiro, de acordo com o último relatório de pirataria do ICC International Maritime Bureau (IMB). O Golfo da Guiné, na África Ocidental, é cada vez mais perigoso para o transporte comercial, representando pouco mais de 90% dos sequestros marítimos em todo o mundo. Enquanto isso, os sequestros de navios estão no seu nível mais baixo desde 1993, informou o IMB. No total, o Piracy Reporting Center do IMB registou 98 incidentes de pirataria e assalto à mão armada no primeiro semestre de 2020, contra 78 no segundo trimestre de 2019. a outra empresa no 3º trimestre de 2020. saídas programadas para os cruzeiros dos efectuada pelo MS Zaandam. A "Grand efectuada pelo Zaandam. O MS Maasdam ingressou na frota da HAL em 1993, sendo o segundo dos 4 classe S. Com capacidade para 1258 pasnome de Maasdam. Mais recentemente, A crescente ameaça de pirataria apenas aumenta as dificuldades que centenas de milhares de marítimos têm de enfrentar, ao trabalharem para além dos seus contratos devido às restrições da COVID-19 no que respeita as rendições de tripulações e viagens internacionais, disse o IMB. "A violência contra tripulações é um risco crescente numa força de trabalho que já está sob imensa pressão", diz o diretor do IMB Michael Howlett. “No Golfo da Guiné, atacantes armados com facas e armas agora têm como alvo as tripulações de todo o tipo de navios. Todos estão vulneráveis. " O IMB insta os navios a denunciarem qualquer ataque imediatamente, a fim de coordenaruma resposta bem-sucedida.
Fonte: https://www.seatrade-maritime.com/piracy/seafarer
CARNIVAL ANUNCIA VENDA DOS 4 NAVIOS DE CRUZEIRO HOLLAND AMERICA
- do blogue Mare Marinheiros, de António Costa
Corporation, a HAL-Holland America Line, anunciou que os seus navios de cruzeiro Amsterdam, Rotterdam, Maasdam e Veendam foram vendidos (para compradores não divulgados) e deixam a frota. Os navios foram vendidos aos pares: os da classe S, Maasdam e Veendam, serão

Amsterdam e Rotterdam serão entregues A Holland America cancelará todos as 4 navios, com itinerários selecionados assumidos por outros navios da HAL. A "Grand World Voyage 2021"planeada para o MS Amsterdam será adiada para 2022 e Africa Voyage 2021" (partida em 10 de outubro) do MS Rotterdam também será sageiros, é o quarto navio HAL a levar o kidnappings-pirates-gulf-guinea-surge-h1-2020
o navio havia sido realocado no Pacífico Sul e no Alasca. O último navio da classe S, o MS Veendam (1350 passageiros) foi entregue em 1996 e é o quarto navio HAL a ter o nome Veendam. O primeiro navio da classe R foi o MS Rotterdam foi inaugurado em 1997. Com capacidade para 1404 passageiros, é o sexto navio HAL com aquele nome. O MS Amsterdam, construído em 2000, é o último dos 4 navios da Classe R. Com capacidade para 1380 passageiros, é o terceiro navio da HAL chamado Amsterdã. Os clientes da HAL com reservas para esses navios serão notificados de que os cruzeiros serão alterados ou cancelados. Juntamente com os agentes de viagens, eles receberão informação sobre se a viagem se realizará com outro navio ou poderão optar por reservar outro cruzeiro pela Holland America quando as operações recomeçarem. Os passageiros que preferirem o reembolso serão ressarcidos. Os cruzeiros cancelados incluem os do Canadá e Nova Inglaterra e Grand Voyages (cruzeiros mundiais) no MS Amsterdam, do México, Pacífico Sul, Austrália e Ásia (no MS Maasdam), Europa, Canal do Panamá, Caribe, América do Sul e Havaí (no MS Rotterdam) e Europa e Caribe (no MS Veendam).
Fonte: https://gcaptain.com/carnival-announces-sale
of-four-holland-america-cruise-ships/
MS WORLD VOYAGER
O MS World Voyager, segundo navio encomendado pela Mystic Cruises / Douro Azul aos estaleiros da West Sea em Viana do Castelo saíu para provas de mar no final do mês de Julho. Este novo navio, à semelhança do MS World Explorer, que já navega desde 2019, está preparado para expedições no gelo. Tem o comprimento de 126 metros, boca de 19 metros e velocidade máxima de 18 nós. Entretanto, o terceiro navio –MS World Discover –está em princípio de cons

trução, devendo ficar concluído no ano de 2021. Depois destes três navios, os estaleiros de Viana vão construir outros quatros navios oceânicos, preparados para expedições no gelo, para a Mystic Cruises num valor total estimado de 286,7 milhões de euros. World Traveler (2022), World Adventurer (2023) e o World Seeker (2024) são três desses quatro navios que já têm data de construção e nome confirmado.


OS JOVENS E O MAR
BÁRBARA CHITAS
O FIM DO MEU TEMPO DE PRATICANTE
Ao fim de mais de 365 dias e 3 navios, muitas reviravoltas e pandemias, finalmente chegou o dia… Acabei o meu tempo de praticante!
OS NAVIOS ONDE ESTIVE
Corvo - Mutualista Açoreana Foi a minha primeira experiência profissional com o mar! Foi aqui onde fiz a maioria do meu tempo de praticante. Este navio de carga geral faz a ligação entre Portugal Continental e o Arquipélago dos Açores. Para mim foi uma decisão difícil largar o Corvo, uma vez que já me sentia em casa, já sabia as minhas tarefas e os procedimentos da empresa e estava sempre em Portugal. No entanto acabei por ir para experimentar navegarnoutros navios e noutros locais. AIDAperla - AIDA Cruises Neste navio estive três meses e meio e era o navio onde supostamente teria acabado o meu tempo de praticante. Gostei bastante da experiência de estar neste cruzeiro gigante com um comprimento de 300m e uma Gross Tonnage de 125000t. Era maravilhosa em (quase) tudo, ponte gigante, grandes restaurantes, um gigante teatro, dois bares de tripulação e até um jacúzi para nós. Mas faltava-lhe o mais importante, o cheiro a casa e o espírito de uma equipa criada em Portugal. Trabalhar com pessoas de outras nacionalidades é importante, pois com elas poderemos aprender de forma diferente, novos costumes e tradições. Por outro lado, acaba por ser algo solitário não ter ninguém que fale a nossa língua a bordo, pois por mais que as pessoas se esforcem (que nem sempre é o caso), eventualmente segregam-se por nacionalidades e falam entre si.
ESQ: Corvo; DIR, cima: AIDAperla; baixo: World Explorer WorldExplorer- MysticCruises Estive aqui embarcada um mês. Embarquei logo na semana a seguir a sair da AIDAperla. Aqui deram-me a oportunidade de concluir o estágio no navio que iniciou um novo começo para a nossa marinha mercante. Talvez esteja a ser muito romântica, mas o que está a ser construído em Viana do Castelo é mais que uma empresa de cruzeiros, é uma oportunidade de os jovens portugueses sonharem em estar num navio de cruzeiro português e terem com eles uma equipa dinâmica e sempre disposta a formá-los da melhorforma.

Mas o que se faz num navio de Cruzeiro em tempo de COVID? Em tempo de pandemia a maioria dos cruzeiros ou esteve em porto ou ancorado. Nesta altura a melhor tarefa que podemos fazer são trabalhos de manutenção que seriam impossíveis de ser executados com passageiros a bordo. Tais como: renovações de camarotes, redesign de interiores do navio, revisão de procedimentos, entre outras infindáveis tarefas.
O QUE APRENDI COM TUDO ISTO?
A vida é como um navio, poderemos apontá-la numa proa e ela levar-nos noutro Rumo. Tinha imaginado acabar o meu ano de praticante com muitas mais navegações do que as que foram possíveis. Poderia ter saído mais vezes do navio, se imaginasse o que se avizinhava. Mas são estes os momentos que nos ensinam a dar valor ao que temos e a levar a vida no seu próprio ritmo e também a não deixar as oportunidades que nos são oferecidas escapar. Espero que todos se encontrem com saúde e que os nossos navios recomecem a navegar em breve.
WINDFLOAT ATLANTIC
Parque eólico flutuante já está a funcionar em Portugal

Foi instalada no final de Julho a última unidade do parque eólico flutuante ao largo de Viana do Castelo. As três unidades começaram então a injetar na rede elétrica nacional a energia produzida pelas suas turbinas de 8,4 MW, as maiores do mundo já instaladas numa plataforma flutuante.
Dado que pode situar-se em águas muito profundas, o WindFloat é capaz de aceder a recursos energéticos em áreas marítimas muito vastas, respondendo a desafios sociais de relevo, como a transição para a energia limpa, a segurança da energia e as alterações climáticas.
O WindFloat Atlantic tem uma capacidade total instalada de 25 MW e é o primeiro parque eólico flutuante semi- -submersível do mundo. O equipamento vai ser capaz de gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a 60.000 utilizadores por ano, o que representa uma poupança de quase 1,1 milhões de toneladas de CO2.
Segundo a EDP, as vantagens desta tecnologia são, entre outras, o facto de a montagem ser feita em terra, de não ser necessário um navio de transporte específico para o seu reboque e de não depender de operações offshore complexas, associadas à instalação das estruturas fixas tradicionais. Estes fatores contribuem para reduzir as despesas associadas ao ciclo de vida e os riscos.