




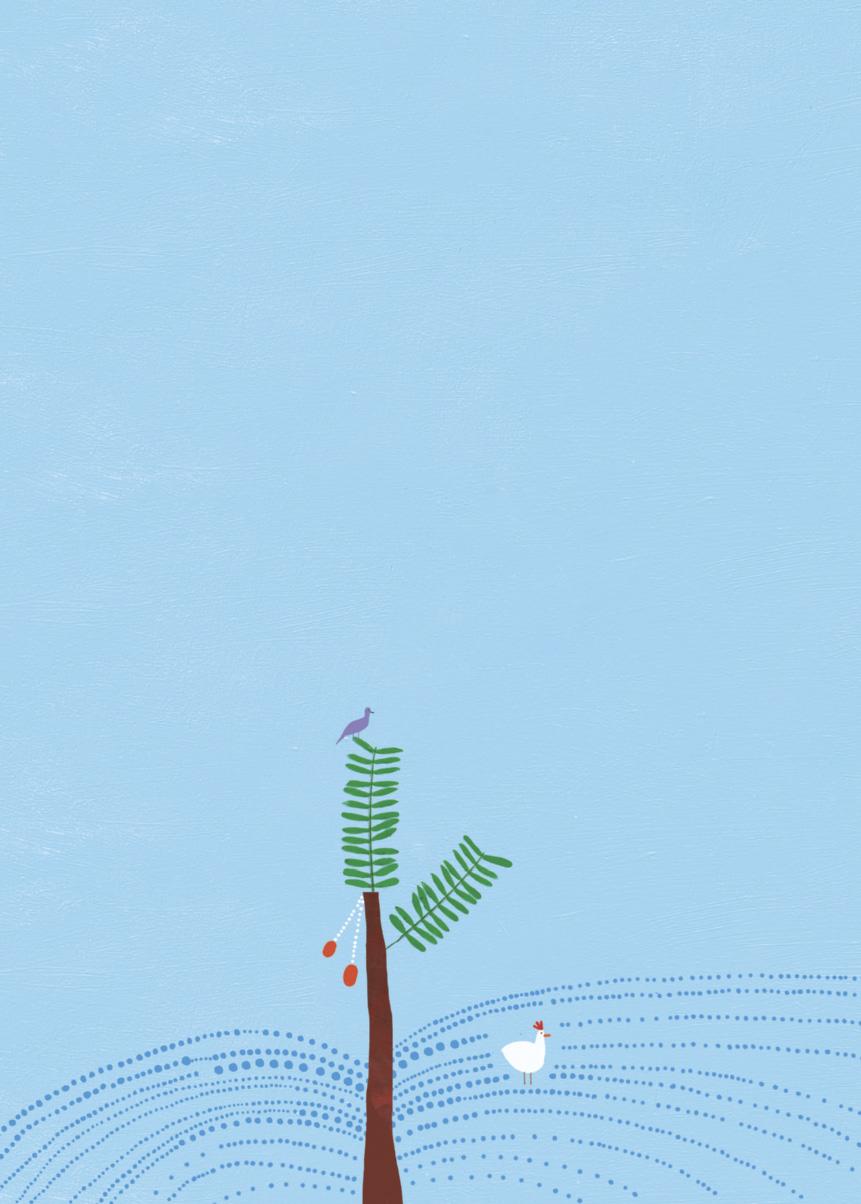 3.ª edição
São Paulo – 2022
3.ª edição
São Paulo – 2022

Copyright © Geni Guimarães, 2001, 2017, 2022
Todos os direitos reservados à QUINTETO EDITORIAL LTDA.
Rua Rui Barbosa, 156, 1.o andar
São Paulo – sp – cep 01326-010
Tel. (0-xx-11) 3598-6000
Editor assistente bruno salerno rodrigues
Revisoras lívia perran e marina nogueira
Geni Mariano Guimarães é professora e escritora. Nasceu em São Manuel (SP) em 1947 e desde 1979 escreve contos, novelas, romances e poemas que expõem sua visão crítica das questões étnicas e de gênero. Algumas de suas obras de destaque são Leite do peito (contos) e Da flor o afeto, da pedra o protesto (poesia). Em 2021, foi a escritora homenageada da 7 a Olimpíada de Língua Portuguesa.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Guimarães, Geni
A cor da ternura / Geni Guimarães. – 3. ed. –São Paulo, SP: Quinteto, 2022.
isbn: 978-85-8392-209-4 (Livro do Estudante Impresso)
1. Literatura infantojuvenil I. Título.
22-122014 CDD-028.5
Índices para catálogo sistemático:
1. Literatura infantojuvenil 028.5
2. Literatura juvenil 028.5
Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380
Para os amigos Johannes e Moema Parente Augel, que no afeto singular do acolhimento tão bem agasalharam a timidez da minha nação interna.
9 Primeiras lembranças
21 Solidão de vozes
27 Afinidades: olhos de dentro
37 Viagens
45 Tempos escolares
55 Metamorfose
67 Alicerce
73 Mulher
79 Momento cristalino
85 Força
92 Paratexto
Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. Colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos no decote do seu vestido, arrancava dele os seios e eu mamava em pé.
Ela aproveitava o tempo, catando piolhos da minha cabeça ou trançando-me os cabelos. Conversávamos, às vezes:
— Mãe, a senhora gosta de mim?
— Ué, claro que gosto, filha.
— Que tamanho? — perguntava eu.
Ela então soltava minha cabeça, estendia os braços e respondia sorrindo:
— Assim.
Eu voltava ao peito, fechava os olhos e mamava feliz.
Era o tanto certo do amor que precisava, porque eu nunca podia imaginar um amor além da extensão dos seus braços.
Outras vezes, no meio da mamada, eu parava e começava:
— Cadê o toicinho daqui?
— Gato comeu.
— Cadê o gato?
— Foi caçar rato.
— Cadê o rato?
— Foi no mato.
— Cadê o mato?
— Fogo queimou.
— Cadê o fogo?
— Água apagou.
Eu interrompia as perguntas da brincadeira para saber coisas além dela. Uma vez foi assim:
— Quem fez o fogo e a água?
— Deus, é claro. Quem haveria de ser?
— E se pegar fogo no mundo?
— Ele faz a água virar chuva e apaga o fogo do mundo.
— Mãe, se chover água de Deus, será que sai a minha tinta?
— Credo em cruz! Tinta de gente não sai. Se saísse, mas se saísse mesmo, sabe o que ia acontecer? — Pegou-me e, fazendo cócegas na barriga, foi dizendo:
— Você ficava branca e eu preta, você ficava branca e eu preta, você branca e eu preta...
Repentinamente paramos o riso e a brincadeira. Pairou entre nós um silêncio esquisito.
Achei que ela estava triste, então falei:
— Mentira, boba. Vou ficar com essa tinta mesmo. Acha que eu ia deixar você sozinha? Eu não. Nunca, nunquinha mesmo, tá?
Daí ela fingiu umas palmadas na minha bunda, saiu correndo pelo quintal afora.
— Quem chegar por último vira sapo da lagoa.
Corri também, dando largas passadas, tentando pisar no rastro dela.
Mas as coisas começaram a mudar. Era só eu querer mamar, ela se esquivava.
— Cecília — dizia ela —, traga a garapa da menina.
Outras vezes, era só eu botar a mão no decote do seu vestido, vinha a saída: uma bolacha caseira, uma goiaba, uma laranja ou qualquer outra guloseima para me tapear.
Um dia emburrei. Joguei fora tudo o que me oferecera. Recusei-me a comer qualquer coisa. Foi quando ela resolveu explicar-me:
— É que o leite da mãe está podre.
— Quem que apodreceu ele? — perguntei inocentemente.
— O gato da Maria Polaca fez caca no meu peito.
— Por que você deixou ele entrar aí, mãe?
Ela não me respondeu. Chamou a Cecília e disse:
— Leva ela pra ver os porquinhos. — E mais baixo:
— Não vai deixar ela ver os bichinhos mamando que ela pode se “aguar”.
Saímos. Eu soluçava baixinho e limpava o rosto com as costas das mãos. Nisso passou um gato rajado diante de nós e eu me lembrei de uma coisa.
— Cecília, de que lado fica a porta da teta da mãe?
Minha irmã olhou dos lados, viu uma pedra na margem da estrada. Sentou-se nela e carinhosamente foi me falando:
— Vem cá. Vou te explicar direitinho. É que a mãe encomendou um nenezinho pra nós. Você já é mocinha, tem dente, pode comer de tudo, não é? Agora, nenê não. Daí a mãe tem que guardar o leite pra ele. Entendeu?
— Ah, é por isso que a mãe foi na cidade outro dia... Cecília, como é que vai ser o... como vai ser ele?
— Vai ser gordinho, bonito e chorão — respondeu-me rindo.
Baixei a cabeça e com o dedão do pé comecei a fazer buraquinhos no chão.
A Cecília levantou-se, pegou-me no colo e se pôs a caminhar.
Comecei a sentir muito sono, mas ainda pedi:
— Se ele chegar de noite, você me chama...
Deitei-me no seu ombro e adormeci.
Ela era linda. Nunca me cansei de olhá-la.
O dia todo arrastava os chinelos pela casa. Ia e vinha.
Eu também ia, eu também vinha.
Quando me pegava no flagra, bebendo seus gestos, esboçava um riso calmo, curto. Meu coração saltava feliz dentro do peito.
Eu baixava a cabeça e fechava os olhos. Revivia o riso dela mil vezes e à noite deitava-me mais cedo para pensar no doce cheiro de terra e mãe.
Um dia, quando venerava seus pés, vi que estavam inchados.
Fui devagarinho subindo a vista: as pernas estavam exageradamente grossas. A barriga parecia a barrica onde ela guardava a água de beber. Mãos, braços, rosto, tudo inchado.
Comecei a tremer e ficar impaciente.
Que doença seria aquela? E se minha mãe explodisse?
Desesperei-me.
Precisava achar alguém para saber se ela estava para morrer.
Precisava saber se, quando mãe morre, a gente pelo menos pode morrer também.
Saí correndo quintal afora. Então, vi a Cema, minha irmã mais velha. Corri para ela. Sacudi-a fortemente. Perguntei, chorei, insisti, mas a Cema continuou comendo torrões e soltando a baba lamacenta pelos cantos da boca. No desespero, havia esquecido que ela tinha deficiência intelectual, meu poema bobo.
Com meu vestido de florezinhas azuis, limpei sua boca e, agarrada a suas mãos, esperei impacientemente alguém chegar.
Não demorou muito, vi a Arminda surgir lá na curva do caminho.
Ela tinha ido levar o almoço para meu pai e os outros irmãos que trabalhavam na colheita do café.
Soltei as mãozinhas da Cema e fui encontrá-la.
— Arminda — disse eu —, acho que a mãe vai morrer. Por favor, leva ela para dona Chica Espanhola benzer. Ela está deste tamanho. — Estiquei os braços
para os lados e depois fiz um círculo querendo mostrar o tamanho da barriga dela. — Arminda — continuei —, me pega no colo que eu estou com frio. Por favor, leva ela...
Pegou-me carinhosamente e começou a acariciar-me.
Disse:
— A mãe não está doente, bobinha. Lembra que a Cecília te contou que ela tinha encomendado nenê?
Então. Ele está guardado na barriga dela, por isso que a mãe está gordona. Você não está dormindo comigo? Pois é pra não machucar o nenê.
Resmunguei:
— Arminda, eu gosto de você, mas eu queria dormir com a mãe, porque a orelha dela é mole e esquenta até a minha mão. Você também é boazinha, mas a sua orelha...
Chorei novamente, baixo e calmo.
Chegando em casa, minha mãe cerzia uma camisa xadrez, em pé, encostada no fogão apagado. A Arminda piscou disfarçadamente e falou para ela:
— Tem gente querendo colo. Dá aqui a roupa que eu acabo de remendar.
Minha mãe entregou a roupa para a Arminda e sentou-se numa cadeira feita de palhas trançadas. Estendeu os braços e eu fui como se caminhasse para
o céu. Fiquei toda torta, escorregava e não conseguia pousar a cabeça no seio tão e sempre amigo.
No entanto, não disse nada. Não agradeci. Não reclamei. Apenas respirei fundo para recolher o eterno cheiro de terra e mãe.
Um dia, ao acordar, não ouvi nenhum barulho nem senti o cheiro agradável de café novo vindo da cozinha. Estava só, na cama.
Já me preparava para ir ver o que estava acontecendo, quando a Iraci entrou no quarto dizendo:
— Você tem que ficar aqui quietinha. Não pode se levantar ainda.
Notei-a carinhosa, mas preocupada. Fiz mil perguntas, todas de uma só vez:
— Por que não posso? Cadê a Arminda? Onde está a mãe?
Já gaguejava engolindo lágrimas de medo e incertezas, quando a Iraci apressou-se explicando:
— A Arminda foi trabalhar e eu fiquei no lugar dela. Não precisa se assustar. O pai foi buscar a dona Chica Espanhola. A mãe está deitada.
— A dona Chica Espanhola?! — perguntei apavorada.
— Não é nada de mau, bobinha. Ela vai ajudar o nosso nenê a nascer.
Saiu.
Nesse mesmo instante, comecei a ouvir minha mãe gemer baixinho.
Gemia, gemia, gemia...
Tapei os ouvidos com o travesseiro e só deixei os olhos a descoberto, que, marejados de lágrimas, acompanharam a chegada de meu pai e dona Chica, que vinha dando ordens:
— Alguém põe água pra esquentar. Faça um chá bem quente de hortelã com pimenta-do-reino.
Minha mãe gemia, gemia...
O dia se arrastava e eu ali, esquecida.
Ninguém lembrou que eu poderia sentir fome ou sede. Nem eu.
O sol entrava com seus raios já cansados na fresta da janela, quando, sem poder fazer mais nada, levantei-me, ajoelhei-me aos pés da cama e comecei a rezar:
— Minha nossa Senhora do oratório da minha mãe, faça que ela não chore, que eu nunca mais vou xingar o nenê de diabo e cocô no meu coração. Se ela parar de gemer, daqui pra frente vou só falar Jesus e doce de leite pra ele. Amém.
Fiz o sinal da cruz e, quando me encaminhava para a cama novamente, para dali continuar a vigília, os gemidos pararam.
Um choro forte de bebê abriu espaços e entrou no quarto abruptamente.
Jesus nascia.
No dia seguinte minha mãe começou a receber visitas. O pessoal da redondeza vinha conhecer a criança trazendo presentes. Aproveitavam a ocasião para agradecer minha mãe por ter, com benzimentos e remédios caseiros, curado seus filhos de lombriga, bucho virado ou mesmo quebranto. Traziam galinhas gordas, amarelas, brancas e rajadas. Não davam galinhas pretas, explicou dona Jandira para a Iraci, um dia, porque eram duras e só serviam mesmo para despachos.
Todo dia, desde cedo, a mulherada aparecia. Traziam sabonete, talco e metros de pano para as roupinhas do nenê.
Eu nem ligava para elas. Ficava sentada num degrau da escada na porta da sala, indiferente. Mas elas tinham sempre alguma coisa para me dizer. “Xi! Perdeu o colo”, diziam umas. “Vou levar ele pra mim”, diziam outras.
“Que enfie no...”, pensava eu. Logo me arrependia e fazia o sinal da cruz.
Minha mãe às vezes acompanhava as visitas até a porta. Nessas ocasiões segurava minha mão e dizia:
— Vamos lá no quarto ver o seu irmãozinho. A mãe não pode trazer ele aqui enquanto não passarem sete dias. Ele pode pegar o mal de sete dias. Isso não tem cura. Vamos lá, filha, vamos...
Eu não ia. Que ficasse lá, ocupando meu lugar. Não ia.
Só pude conhecê-lo no oitavo dia, quando, passado o perigo da doença, minha mãe tirou-o do quarto.
Não achei bonito nem feio.
Apenas senti um grande alívio quando me vi descompromissada de chamá-lo de Menino Jesus.
Era negro.
Com a chegada do Zezinho, tudo mudou em casa.
A Cecília não foi mais para o trabalho na lavoura. Ficou para ajudar em casa. Cozinhava para todos:
nós que ficávamos e os que davam duro na roça.
Desorganização total. Ordem da casa, refeições e lavagem de roupas. Além do mais, era o banho do Zezinho, chás do Zezinho, fraldas do Zezinho, choros do Zezinho. Zezinho, Zezinho, todo minuto, toda hora, todo dia, sempre.
A Cema parece que adivinhou. Começou a fazer coisas do arco-da-velha. Esparramava mantimentos no chão, derrubava cadeiras, subia na mesa, comia terra e parecia descarga: fazia cocô e xixi a cada cinco minutos.
Resolveram então ordenar a trabalheira. A Cecília lavaria toda a roupa e vigiaria a Cema. Minha mãe faria as refeições e cuidaria das frescuras do Zezinho. Quem tivesse um tempo de sobra faria a limpeza da casa. O resto do tempo era dado a mim, que não dava trabalho. Comida depois, banho depois. Tudo depois de tudo.
— Você é mocinha, pode esperar pra tomar banho.
— Você é grandinha, espera um pouco pra almoçar. Por desaforo, deixei de ter desejos e fome. Só tinha vontade de dormir. Comecei a sentir frio a qualquer hora do dia e da noite. Frio se chovesse. Frio se fizesse calor. Em qualquer circunstância, frio.
— Lombriga aguada — disse a dona Chica, que parecia sanguessuga nos nossos acontecimentos familiares.
Daí então vieram os chás: hortelã, poejo, alho etc. Eu os tomava. Na verdade, bebia a intenção de cada um. Lombriga coisa nenhuma. Eu tinha era saudade. Saudade dos meus detalhes perdidos. Do meu colo, da minha comida servida na boca. Do meu espaço para perguntar besteiras, como diziam eles. Dos olhares carinhosos.
Da minha mãe dizendo “descasca uma laranja pra menina, deixa que eu penteio o cabelo dela, mais coberta pra menina não passar frio”...
Lombriga, o nariz da dona Chica. Era saudade mesmo. E saudade não se cura com chás.
Um dia, eu estava deitada, acompanhando com os olhos uma aranhinha que ziguezagueava no telhado, quando ouvi minha mãe rezando do outro lado da parede:
— Nossa Senhora Aparecida, vós que sois mãe como eu, venha ao encontro das minhas orações. Derrama suas bênçãos poderosas sobre a minha filha, devolvendo-lhe a saúde, pelo amor de Deus. Alivia o nosso sofrimento, pra gente poder voltar a ser uma família feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Senti uma fisgada no coração. Nunca quis nem pensei em fazer minha família sofrer. Propus-me a reagir imediatamente. Andar para agradá-los, sorrir para o sorriso de todos, comer, comer todos os dias e até a toda hora, se preciso fosse.
Quando já me esforçava para levantar, a porta se abriu.
— Filha, a dona Pedrina deu um pão com torresmo. Está aqui um pedaço. Come pra você ver que delícia. Se você comer...
Arrumei um riso, peguei o pão. Enquanto comia, ela me olhava embevecida, quase mastigando para mim,
comigo. Para usufruir o máximo do encantamento, engoli vagarosamente aquele pedaço e pedi outro.
— Quer mais? Vou buscar. Abençoado seja o nome de Jesus.
Saiu correndo e, em segundos, voltou. Com ela vieram a Cecília, com o Zezinho no colo, a Cema, a Iraci, a Arminda, o Dirceu e meu pai, ainda com o machado de cortar lenha na mão.
Todos se acomodaram ao meu redor. Uns sentados na cama, outros ajoelhados em qualquer espaço livre. Ficaram me olhando comer, felizes, sem a menor discrição de silêncio, no exagero da vigília.
Foi aí que meu pai cutucou minha mãe e disse:
— Amanhã mesmo você vai na cidade comprar vela pra cumprir a promessa.
Colocou o machado no ombro e saiu assobiando.
— Quer mais? — perguntou a Iraci.
Antes que eu respondesse, a Arminda brincou:
— Também agora a gente não vai querer engordar a menina tudo de uma vez.
Todos riram alto, porque o tempo era de riso. Ri também e, aproveitando o momento de desprendimento, pousei a cabeça no colo da minha mãe.
Sua blusa estava toda molhada de leite. O peito dela, cheiinho, vazava.
Disfarçadamente, passei o dedo indicador no líquido. Levei ao nariz, cheirei. Levei à boca, lambi.
Realmente, aquele leite era do Zezinho. Não era o meu leite da minha mãe.
— Viu só? Até ele gostou. — Era a aranhinha ainda ziguezagueando no telhado.
— Que vocês pensavam, eu já sabia. Mas que falavam... Ele quem?
— Seu irmãozinho.
— Ele gostou? Não reparei.
— É. Você não repara no jeito dos outros gostarem. Ou melhor, repara, mas quer que gostar seja do seu modo. Cada um...
— Ele nunca ligou pra mim. Isso eu reparei. Não é mentira.
— E você, algum dia, ligou pra mim?
— Eu?
— É. Nunca ligou pra mim e eu sempre morei aqui.
— Eu não sabia. Desculpe.
— Entendeu agora? Você é que nunca procurou saber direito dos olhos dos outros. Não é destes olhos que eu falo. É dos olhos de dentro.
— Entendi. Mas eu sempre pensei que as outras pessoas e bichos nem soubessem desses olhos de que você fala. Eu, não é querendo ser sabida como os animais, sabia. Não falava porque... Ah, não dá pra contar agora... É uma história muito comprida. Bem, agora vou ligar pra você e pra ele. Mas ele não sabe brincar. E você, sabe? Brinca do quê?
— Todo mundo sabe brincar. Até os grandes. Eu brinco de tanta coisa! De ver, de falar com as crianças, de gargalhar com os olhos, você sabe do que falo.
— Sei. Nunca na vida pensei que você fosse tão sabida. Me ensinou num instantinho essas coisas de ver.
A aranhinha remexeu-se.
— A conversa está boa, mas preciso ir.
— Você vai embora agora que a gente...
— Não, não vou. Ou melhor, não vou de todo. Só tenho umas coisas pra fazer. Não disse que moro aqui?
— Tinha até me esquecido.
O Zezinho chorou no quarto ao lado. Olhei para minha amiga, meio indecisa, mas ela, sabida, ajudou-me.
— Vai lá. Gostar...
Saí correndo.
Ele estava pelado, esperneando. Segurei suas mãozinhas e agasalhei-as entre as minhas. Silenciou, ficou na mudez absorvendo meu afago.
— Eu pensei que você não ligasse pra mim. Deus que me perdoe, mas eu até achava que você era cego por dentro. Desculpe. Sempre fui meio besta mesmo. Mas, daqui por diante, nem vou ficar triste se os grandes não tiverem tempo. Vou sempre falar com você ou com minha aranhinha, se você estiver dormindo. Se você também precisar dela, está às ordens.
O Zezinho abriu a boca, engoliu minha oferta e estalou os lábios diante do gosto gostoso. Sorriu. Seu hálito morno veio impregnado de perfume de primeira vez.
Bom mesmo foi ter amigos. Não amigos de passos paralelos, com os quais eu só podia falar coisa pensada e repensada para não assustar.
Gostoso foi ter plenitude de voz e atitudes. Falar do que quisesse, ter resposta para tudo e acreditar que tudo era possível, o mundo simples e aberto.
Um dia eu precisava saber quem teria feito o trinquinho da portinha da casinha da lua.
— Psssiu! — chamei. — Onde você se escondeu?
Minha aranhinha não respondeu, nem botou a cara nos vãos das telhas.
— Não gosto dessa brincadeira. Você sabe.
Nada.
— Vou contar até três: um, dois, três.
Nem sinal.
Apavorei-me.
Olhos arregalados, revirei todos os cantos do telhado. Não a encontrei.
Empurrei a porta e vi, achatada no batente, pequena, sem cara, sem pernas, seca, minha aranhinha. Só o corpinho estraçalhado grudado na madeira.
Estremeci. Quis pegá-la para tentar ao menos abrir-lhe os olhos de dentro, mas, ao tocá-la, desfez-se em pó e uma rajada de vento espalhou-a por espaços desmedidos.
Comecei a chorar. Não bastava. A tristeza não saía. Quis me morrer, não pude. Me morrer eu ainda não sabia. Gritei:
— Zezinho! Zezinho!
Calei-me porque lembrei que ele não estava. Tinha ido com minha mãe emprestar não sei o que da dona Ernestina.
Saí do quarto e sentei-me na escada para esperá-lo e pedir socorro.
Mas, quando ele chegou, lembrei que não poderia dar a notícia assim de qualquer jeito. Criança é fraca, eu sabia.
Enquanto esperava o momento oportuno, uma dúvida terrível me assaltou.
— Zezinho, você acha que no céu tem comida de aranha?
Ele não respondeu, e eu silenciei perdoando.
— Você acha que céu de gente é maior ou menor que o céu dos bichos?
Ele de novo não me respondeu e de novo silenciei perdoando.
— Será que Deus mesmo é que põe rubim socado nos machucados de gente morrida ou ele manda São Pedro ou outro santo colocar?
— Xi... Não sei — respondeu ele sem me olhar.
Pegou seu papagaio de jornal e saiu na carreira.
Senti que seus olhos internos, como os olhos dos outros, olhavam agora para outra direção.
Vesgos, eles se desviaram do meu rumo e me deixaram, desde então, órfã de afinidade e crença.
O Zezinho se misturou nas besteiras dos homens e eles, do tamanho natural, não me davam espaço
para alcançá-los, nem faziam nada para que eu, no mínimo, pudesse ter passadas mais longas.
Quando eu perguntava de que cor era o céu, me respondiam o óbvio: bonito, grande, azul etc. Não entendiam que eu queria saber do céu de dentro. Eu queria a polpa, que a casca era visível. Por isso foi que resolvi manter contato com as pessoas só em casos de extrema necessidade.
Ao contrário dos seres humanos, os animais se mostravam amigos e coerentes.
Aprendi a falar com eles. Imitava todo e qualquer pássaro da região. Tirava de letra todas as mensagens dos cães, gatos, cavalos, formigas, baratas etc.
Quando, para rir, eu imitava as coleirinhas, para negar alguma coisa, latia, ou para pedir, miava, as pessoas começaram a me olhar torto.
Foi por isso que me botaram uma correntinha com um crucifixo no pescoço, aconselhados pelo padre da igrejinha local. Ensinaram-me o “pai nosso que estais no céu” com o “seja feita a vossa vontade”.
Fiz todas as vontades, dentro do meu limite de compreensão.
Um dia, a mando de minha mãe, dei um pulinho na horta para buscar couve para o jantar. Acontece
que, lá chegando, encontrei uma fila enorme de formigas, que carregavam uma barata morta.
Fiquei terrivelmente amargurada.
Doí a dor dos seus familiares e amigos. Como estariam os filhos, a mãe, o esposo ou a esposa?
Achei que seria o cúmulo não mostrar minha dor e solidariedade. Aderi ao ato fúnebre.
Amarga e cabisbaixa, acompanhei-a até a última morada.
Não sei quanto tempo perdi, mas, quando cheguei em casa, já escurecia e a família estava preocupadíssima com minha demora.
Diante do clima de apreensão, fui logo explicando, naturalmente:
— Não aconteceu nada. É que eu fui acompanhar o enterro da barata.
Foi um silêncio geral. Percebi pelos olhares que havia alguma coisa pior que o atraso. Ou não havia explicado direito?
Pensei então em me fazer compreender. Pus-me a latir desesperadamente. Ao contrário do que eu previa, minha mãe começou a chorar.
Foi assim que nesse mesmo dia, à noite, levaram-me à casa da dona Chica Espanhola. Depois de fazer várias gesticulações estranhas, sentenciou:
— Tem que trazer a menina aqui nove dias seguidos. Está com acompanhamento. O espírito de Zumbi está do lado direito dela. Vou fazer um trabalho especial. Afasto o coisa-ruim e peço a guarda da Menina Izildinha.
Naquela noite, deitei-me com o lado direito espremido contra o colchão de palha. Cochilava e acordava sobressaltada. E se o coisa-ruim, não podendo estar do meu lado direito, montasse nas minhas costas?
Voltava ao sono intranquilo quando olhava para o oratório e via, entre velas acesas, inúmeros folhetos de orações e imagens de mil santos, que ali foram postos com a responsabilidade de me proteger.
A partir de então camuflei meus latidos. Engoli todos os miados para não denunciar a insistência da doença.
Nunca mais “andei de sapo”, mas tinha certeza de que ainda estava mal acompanhada, porque falar com os animais eu não falava, não podia, mas vontade não me faltava.
Foi exatamente nessa época que peguei bicho- de-pé. Fiquei imensamente feliz. A única coisa que atrapalhava é que não podia contar para ninguém, nem para minha mãe, porque, quando ela descobria
que qualquer um de nós conseguia um, pegava logo uma agulha, queimava a pontinha na labareda da lamparina e cutucava até arrancar o querido bicho do dedo da gente.
Mas eu já não estava só. Com meu bicho-de-pé mantive diálogos longos.
Para ele passava minhas tristezas e alegrias. Havia um fio interno que levava meu pensamento até sua casinha, na curva do dedo do pé. Daí vinha uma coceira gostosa, trazendo-me respostas, consolos. Nossos pensamentos se cruzavam rindo ou chorando. Um dia, diante de tanta felicidade depois do namoro, não resisti. Peguei uma folhinha de calendário que mostrava a figura de um cão enorme com língua de fora e pelos macios. Através dele enviei um recado aos outros amigos:
— Olha, faz favor de dizer pra todo mundo que eu estou muito, mas muito feliz mesmo. Peguei um lindo bicho-de-pé. Fala que eu não estou de mal de ninguém. É que o espírito de Zumbi — fiz o sinal da cruz — está me perseguindo e pode até pegar neles. Juro que nunca, nunca me esqueci de ninguém. Quando o espírito mau for embora e a Santa Izildinha chegar, eu aviso. Por enquanto tchau. Dorme com Deus.
Vida sem atrativos, comecei a planejar. Mudar-me, sair de casa.
Não para longe dos meus pais e irmãos. Mas para uma árvore qualquer, ao lado de um joão-de-barro, ou mesmo para o galinheiro e morar com a nossa galinha garnisé. Poder extravasar. Desmedir.
Caí em mim, porém. Nas conversas comigo, vi a impossibilidade de realizar tal sonho. Como explicar isso para minha mãe e obter a aprovação da família? O mínimo que ia acontecer era novamente aguentar a dona Chica, tomar chás e mais chás. Ver outra vez minha mãe chorando pelos cantos e eu atada da cabeça aos pés, doída e sem solução.
Mandei às favas meus planos. O negócio era mesmo morrer ao lado de todos os seres viventes. Alienei-me para inserir-me no contexto.
Fiz amizades chegadas com a criançada da colônia. Queria aprender a chorar por causa de boneca, rir à toa, andar grudada nas pernas dos adultos, mendigar balas de hortelã.
Entrosei-me. Animais, nem pensar. Até ria quando uma criança mais imbecil metia chutes na barriga de algum cachorro que dormia nos lugares por onde ela devia passar.
Deixei de ser e criar problemas. Tornei-me pessoa que vai com as outras para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Um dia descobri um jeito de me dar prazer enquanto obedecia ao ritual de aceitação.
Diante da casa da dona Ernestina havia uma paineira enorme. Todos gostavam dela. Era usada para os mais variados tipos de brincadeira.
Os meninos, à sombra fresca, faziam arapucas e construíam papagaios.
As meninas montavam balanços e passavam horas e horas indo e vindo no passeio pelos ares.
— Vamos ver quem vai mais longe?
— Primeiro eu.
— Segundo — respondia alguém.
Balançavam contando as idas, erguendo as pernas, soltando as mãos das cordas, criando e recriando para tornar mais emocionante a brincadeira.
Eu esperava minha vez. Não tinha tanta pressa, nem me magoava se ficasse por último. É que eu brincava de outra coisa. No balançar, eu ia para lugares que elas nem podiam imaginar que existiam e que poderiam conhecer. Quantas e quantas vezes fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas etc. Mas eu ia e voltava logo, dentro do limite das balançadas propostas. Fazia tempo que eu andava querendo ir para Santos, porque ouvi o enfermeiro da fazenda contar para minha mãe que havia ido e que tudo tinha sido maravilhoso. Descreveu prédios e ruas.
Falou do sem-fim do mar, arrastando a barriga azulada na beira da praia.
Contou que todos tomavam banho na água salgada e depois se deitavam na areia branquinha para se enxugar com o sol.
Por tudo isso é que eu queria ir para Santos. Difícil, porém, essa viagem, porque viajar nas vinte balançadas não ia dar para quase nada. Não queria ir, ver com os olhos e lamber com a testa.
Queria descer, pisar a areia, molhar o corpo, adoçar a boca com o famoso sal. Para isso e mais alguma
coisa inesperada, precisava, no mínimo, do dobro das balançadas.
Pensei na hipótese de ir para a estação árvore sozinha, mas o saci era terrível. Ele vinha nos redemoinhos, roubava os filhos das mães e sumia com eles. Levava crianças para as montanhas, onde elas eram alimentadas com barro, e para a sede só tinham as gotas de orvalho que rolavam das folhas dos pés de sabugueiro. Dias atrás, tinha dado sumiço em duas: na Cidinha, filha do João Preto Boiadeiro, da fazenda Quebra-Pote, e na Creonice, filha da dona Maria Mulata, que morava no sítio das Palmeiras.
Mas um dia, quando eu menos esperava, veio a solução.
— Quem deixar eu balançar hoje as minhas vinte e as vinte dele, amanhã, depois e depois balança todas as minhas. Fico três dias sem balançar, e quem topar balança um montão.
Várias crianças aceitaram o negócio. Nunca haviam trocado nada com tanto lucro. Fechei com a Neide.
Sentei-me no balanço e iniciei a caminhada. Fechei os olhos para poder ver melhor o trajeto.
Num instante, estava no centro da cidade. Vi os prédios onde as pessoas riam riso de rico nas
janelas escancaradas, e flores encolhidas nos jardins suspensos.
Senti fome e parei para dar uma beliscada. Comi pão de padeiro com mortadela, bebi garapa de cana. Não quis igualzinha às que eu estava acostumada a beber: água morna com açúcar. Descansei um pouco e rumei para a praia. Já ia botar o pé na água quando lembrei que não se pode entrar nos rios com a barriga cheia. Sentei-me então.
Respirei profundamente para chamar o mar. Ele olhou-me ressabiado.
Pensou, pensou, decidiu atender ao meu pedido. Andou de cobra, preguiçoso e pesado. Senti certo medo. Tanto mistério na sua enormidade, tanta magia nas suas lendas! Tanta perfeição e sapiência no seu devolver à terra o que dela leva! Mas ele se chegou, humilde, forte e doce.
De afinidades fiquei plena e tomei liberdades.
— Muito prazer. Estou te amando.
— O prazer é...
Nisso um empurrão me jogou longe da praia.
— Ladrona! Você deu vinte, mais vinte, e mais uma. Boneca de piche, cabelo de palha de aço! Pode ir embora! — Era a Neide cobrando meu desrespeito ao trato.
Todos começaram a me xingar impiedosamente, exigindo que eu me retirasse. Pus-me a chorar desesperadamente. Boneca de piche, cabelo de palha de aço eram ofensas de rotina. Tudo bem. Mas e o mar esperando de boca escancarada? E as palavras suspensas na garganta do mestre?
De nada adiantaria eu argumentar. Não me deixariam mesmo voltar à praia, e, caso deixassem, eu nem saberia pedir desculpas ao mar pela falta de educação das minhas amigas.
Fui para casa chorosa, pensando que o saci até poderia não ser tão ruim quanto diziam. Talvez fosse alguém desentendido e, com algumas explicações, poderia até me deixar ficar sozinha na árvore e não me levar para lugar nenhum. Mal eu não faria a ele, nem ele a mim.
Eu poderia assim, sem a maldade dele, viajar. Eu sempre acreditei, ou tudo fiz para acreditar, na possibilidade de acordos, quando se ganha um tempo para diálogos.
Nesses pensamentos, cheguei em casa e encontrei minha mãe revirando uma caixa de camisas, onde guardava documentos.
Para disfarçar meu desinteresse por coisas que não me diziam nada, perguntei:
— A senhora está procurando o quê?
— Seu registro. Uma moça da escola vem aqui pra pegar os nomes das crianças com sete anos. Você vai completar... Onde você estava, sumida?
— Na pra... no balanço com todo mundo. Quando eu vou pra escola?
— O nome a gente dá agora, mas só entra mesmo no ano que vem.
— Quem mais vai entrar?
— Toda criança que tem mais ou menos a sua idade. O Toninho, o Flávio, a Ana. Muitas crianças.
— E se, no caminho, o Flávio me xingar de negrinha?
— Não quero saber de encrenca, pelo amor de Deus! Você pega e faz de conta que não escutou nada. Calei-me.
Quem era eu para dizer-lhe que já estava cansada de fazer de conta?
Minha mãe achou o dito-cujo registro, ergueu-o, mostrando-me.
— Está aqui.
Riu um riso de alívio e eu em resposta fiz de conta: ri.
Minha mãe trançava meu cabelo. Ela, sentada num banquinho que meu pai havia feito com os restos de um pilão, que, quando novo, triturava milho para as galinhas, e eu, de cócoras na sua frente, ouvindo silenciosamente.
— Amanhã, seu cabelo já estará pronto. Hoje você dorme com lenço na cabeça pra não desmanchar. Não se esqueça de colocar o lenço novo no bornal. Pelo amor de Deus, não vai esquecer o nariz escorrendo. Lava o olho antes de sair.
— Se a gente for de qualquer jeito, a professora faz o quê? — perguntei.
— Põe de castigo em cima de dois grãos de milho — respondeu-me ela.
— Mas a Janete do seu Cardoso vai de ramela no olho e até muco no nariz e...
— Mas a Janete é branca — respondeu minha mãe, antes que eu completasse a frase.
Nisso, ouvi meu pai dizer lá da cozinha:
— Entra, nhá Rosária. — E, ao mesmo tempo, mais alto: — Bastiana, a nhá Rosária chegou.
Nhá Rosária era uma velha senhora negra que morava noutra fazenda com uma família de fazendeiros. Nunca ninguém soube por que morava com aquela família, nem qual sua idade certa.
Uns diziam que tinha 98 anos, outros, que tinha 112. Quando a ela era perguntado, respondia meio sem jeito:
— Só o meu filho que sabe.
— E onde está seu filho? — insistiam alguns.
E ela, já meio emburrada, resmungava:
— Ué, sinhozinho Pedro João, não sabe?
— O dono da fazenda?
— É — respondia ela. Daí então fechava a cara e ninguém mais era louco de mexer no assunto, com medo de que ela fosse embora e não nos contasse histórias da escravatura.
A verdade é que, quando a Vó Rosária — assim a chamávamos — chegava, já vinha acompanhada de
toda a criançada. Todos queriam ouvi-la contar tão lindas e tristes histórias.
Foi assim que naquele dia, quando a Vó Rosária se sentou, quase empurrada pela garotada, minha mãe apressou meu penteado para nos juntarmos aos outros para ouvi-la.
Chegamos quando ela dizia:
— ... e, só com um risco que fez no papel, libertou todo aquele povaréu da escravidão. Uns saíram dançando e cantando. Outros, aleijados por algum sinhô que não foi obedecido, só cantavam. Também bebida teve a rodo, pra quem gostasse e quisesse.
— Quem? — perguntei baixinho para o Lilico, que pegara a história desde o começo.
— Uma tal de Princesa Isabel. Cala a boca!
E a Vó Rosária continuou. Ora enchia a fala de ênfase, ora falava tão baixo e emocionada que precisávamos aguçar os ouvidos para entender.
Determinada hora, não aguentei e perguntei:
— Vó Rosária, ela era santa?
Mas ela já dormia sentada, e a criançada começou a levantar-se para sair. No entanto, não fiquei sem resposta.
— Só haveria de ser, filha — disse meu pai.
— Das mais puras e verdadeiras — confirmou minha mãe.
“Só podia ser”, pensei eu.
Como já havia acomodado a Vó Rosária na caminha improvisada no chão, minha mãe tomou o rumo do quarto. Fui também para meu quarto e acendi uma vela.
Rezei três pai-nossos e três ave-marias. Ofereci à Santa Princesa Isabel, pedindo-lhe que, no dia seguinte, não me deixasse perder a hora de levantar, nem esquecer o nariz sujo. Agradeci-lhe também por ter sido tão boa para aquela gente da escravidão. Deitei-me, formulando uns versinhos na cabeça. Quando soubesse ler e escrever — que ela ia me ajudar —, escreveria no papel e recitaria na escola.
Quando nos meus olhos dançava a chama da vela e no meu coração o versinho já surgia, minha mãe chamou-me.
— Filha, acorda que está na hora.
Não era preciso chamar-me. Eu não havia dormido. Pulei da cama.
... Pai nosso que estais no céu...
— Pegou o lenço?
... santificado seja o Vosso nome...
— Seu cabelo não desmanchou?
... venha a nós o Vosso reino...
— Olha o rosto. Não tem ramela?
... seja feita a Vossa vontade...
— Não briga com o Flávio no caminho que depois o pai dele conta pro Mariano. A corda rebenta do lado mais fraco e seu pai não gosta de ser chamado à atenção.
... assim na terra como no céu. Santa Maria, mãe de Deus...
A minha mãe recomendava e eu ia de lá para cá. Saia azul, blusinha branca. Alpargata nova nos pés. Pó de arroz por todo o corpo.
Nariz limpo.
Eu era negra... a Janete branca...
... agora e na hora de nossa morte...
Nisso ouvi chegando na porta de casa um barulho alegre. As crianças da colônia estavam em festa. Íamos para a escola.
Alguém me chamou.
— Geniiiii...
... amém.
— A bênção, mãe. Fica com Deus.
— Deus te abençoe. Vai com Deus também. Não perde o lenço. Não vai brigar com o Flávio que depois...
O resto dos nãos ficaram no ar, pois eu já me havia juntado aos alunos e me distanciava.
— Vou dar um beijo na professora na saída — disse a Diva, que já estava no terceiro ano.
— Eu também vou — disse a Arminda.
— Eu sempre beijo todas elas — cantou de galo a Iraci, que já era mais tarimbada porque tinha passado para o quinto ano.
— Todo mundo tem que beijar? — perguntei.
— Claro que tem — respondeu a Diva.
— Tem nada — contradisse a Iraci. — Quem quer beijar beija. Quem não quer não beija.
— Eu não beijo porcaria de professora nenhuma! — gritou o Dirceu, um negrinho terrível, que com muito custo havia sido promovido para o quarto ano.
Eu não me abalei com a resposta do Dirceu, porque entrava numa dúvida terrível.
O que faria eu? Beijava ou não beijava? Devia ou não devia?
Será que teria coragem?
E se não beijasse, o que aconteceria?
Fiquei desesperada o tempo todo na classe. Buscava razão para beijar ou desculpa para não fazê-lo.
— Bem — disse a professora. — Agora vamos parar de fazer pauzinhos. Acho que todos vocês
conhecem cobra, não é? Então. Vamos desenhar cobrinhas.
Senti vontade de contar para ela que minha mãe sabia benzer picadas de cobras. Que um dia...
Deus me livre! Nunca teria coragem de interrompê-la. Além do mais, ela também devia saber. Era professora.
Dona Odete começou a cobrir a lousa de cobras sem cabeça e pauzinhos tortos.
Será que cobra-cega não tem cabeça? Acho que aquelas eram cobras-cegas...
“Deve ser isso”, pensava eu.
E os paus, por que eram tortos? Será que ela não sabia desenhar um pauzinho direito? Será que não sabia fazer cabeça nas cobras?
“Meu Deus, beijo ou não beijo?”
— Por que você não fez?
Dei um pulo na carteira. Meu coração começou a bater na garganta.
— Explique, vamos! — gritava ela. — Olhe aqui o dele. — Pegou o caderno de um menino que estava sentado na carteira ao lado e colocou na minha cara, diante dos meus olhos. — Tudo certinho. Só você não fez, por quê?
— A cobrinha... — eu queria explicar.
As lágrimas começaram a sair e o soluço me prendia a voz.
Nisso, um sino estridente badalou forte. A criançada se pôs em alvoroço. Era o sinal da saída. Eu não conseguia parar de chorar.
Meu nariz escorria, escorria. Limpei a sujeira com a manga da blusa. Meu lenço, meu Deus, onde eu o havia colocado? Por que água do olho tem sal e do nariz não?
“Acho que a mãe da gente coloca sal no nosso olho quando dormimos”, pensei.
Não. Não podia ser. O olho da gente ia arder, com certeza.
E arrumei minha malinha de cadernos, sem pressa.
Senti um cutucão nas costas. Era a Diva me avisando:
— Eu já beijei. A Iraci e a Laurinha também já beijaram. Anda logo.
Novo disparo no peito e o coração de volta para a garganta. O beijo! Não havia tempo para dúvidas. Só faltava eu.
Levantei-me depressa, ergui os pés e encostei os lábios no rosto da mestra. Dei dois passos em direção à porta, esbarrei na mesa, enrosquei o cadarço da alpargata no pé da cadeira. Abaixei para me livrar do enrosco e olhei para trás.
Dona Odete, com as costas da mão, limpava a
lambuzeira que eu, inadvertidamente, havia deixado em seu rosto.
Pude ver então sua mão, bem na palma. Era branca, branca.
Parecia a asa da pomba que sempre pousava no telhado da casa da Dona Neide do Seu João Preto.
Será que asa de pomba era mão, ou será que mão de gente é que era asa?
Fiz o caminho de volta para casa sozinha.
As crianças andavam muito depressa e eu havia me atrasado sem perceber.
Em dado momento, vi minha mãe, que me esperava num ponto da estrada.
— Todo mundo já chegou, filha. Não fica mais pra trás. Larguei o pão no forno...
— Mãe, tem cobra sem cabeça?
— Lá vem você com besteira de novo. Claro que não. Por quê?
— É que...
Comecei a chorar de novo. Soluçava. Doía-me a cabeça. Doía-me o estômago. Ela pegou-me no colo e, com a ponta do avental, limpou meu rosto melado de lágrimas. Deitei-me no seu ombro e tentei explicar minha dor sem nome:
— Estou chorando porque estou com fome.
Ano seguinte, já no primeiro dia de aula, levava na bolsa um poema de quatro versos que dizia assim:
Foi boa para us escravos
E parecia um mel
Acho que é irmã de Deus
Viva a Princesa Isabel.
De imediato, não tive coragem de mostrá-lo para a professora.
Cada vez que tentava, ficava gelada e o coração já ia correndo bater na garganta.
Mas, no segundo dia de aula, uma hora em que ela disse que a minha letra era bonita, arranquei da bolsa o poema e lhe entreguei.
Ela foi até a mesa e sentou-se com meu papelzinho na mão. Leu e releu. Pegou a caneta, riscou qualquer coisa por sobre meus versos e mandou o Pedro chamar o diretor.
Imediatamente me deu vontade de urinar e vomitar. Será que havia feito alguma coisa errada? E se houvesse feito, iria para os grãos de milho nos joelhos?
Chegou o diretor seguido de Pedro.
Dona Cacilda deu-lhe o papel. O diretor leu. Ficaram algum tempo conversando baixinho e apontando alguma coisa que eu havia escrito.
Depois ele saiu e a professora devolveu-me o poema e continuou a aula calmamente, sem um gesto que me explicasse o bom ou o ruim dos versos. Mas a qualquer barulhinho ficava eu toda trêmula, ávida por um sinal, uma explicação por mais banal que fosse.
Assim fiquei até o final da aula, mas, quando a minha fila saía e passava pela porta da diretoria, o diretor saiu, procurou-me com os olhos e disse:
— Parabéns.
— Não foi nada. Obrigada.
Fui para casa feliz. Sabiás empoleirados na cabeça da alma.
Devia ser dia 10 ou 11 do mês de maio.
Dona Cacilda, logo após o recreio, disse-nos:
— No dia 13 agora, vamos fazer uma festinha para a Princesa Isabel, que libertou as pessoas escravizadas. Quem quer recitar?
Várias crianças gritaram:
— Eu! Eu! Eu!
Pluft, pluft... meu coração lá foi de novo pulsar na garganta. Era a hora e a vez de expor meu poema. Não podia perder a chance. Mas como conseguir coragem? E se errasse?
— Assim não dá! — gritou a professora. — Levantem a mão.
Levantei a minha, que timidamente luzia negritude em meio a cinco ou seis mãozinhas alvas, assanhadas.
— Você... Você... Você...
Não fui escolhida. Tantos não era possível, explicou a professora. Mas eu não podia perder a oportunidade. Corri atrás dela, sôfrega.
— Dona Cacilda, eu tenho aquele poema que fiz outro dia, que eu mostrei pra senhora e a senhora chamou o diretor e ele falou parabéns e eu deixo ele maior...
Falei tudo sem respirar. Sem piscar. Medo de não convencer, de apertar os olhos e as lágrimas escaparem do controle da emoção.
Saturei.
— Está bem. Amanhã você traz o poema e a gente ensaia.
Acariciou meu rosto e riu chochamente.
Sua mão parecia pena de galinha e seus lábios, no riso, tinham muito a ver com as casquinhas de tomate caipira que minha mãe colocava no tempero do arroz.
Fui para casa meio angustiada. Já quase me arrependia de insistir. O aumentar e decorar o poema não era nada. Difícil era não tremer, não chorar, não esquecer na hora.
Pensei em não ir às aulas por uns dias, inventar uma dor de barriga... Mas não podia falhar com a Princesa Isabel. Ela merecia. Se não fosse ela...
Que pecado seria maior: mentir que estava doente ou não homenagear a Santa Princesa Isabel?
Optei por ir e não ficar em pecado. Antes tremer,
chorar, do que ser castigada por Deus. Por Deus ou por Santa Isabel? Pelos dois, claro.
Ela teria que pedir o consentimento dele para me punir, já que ele é o Pai, o Chefe, o dono de todas as decisões.
Haveria na certa uma reunião no céu entre santos e santas, anjos e anjas... Não. Anjos e anjas não. Crianças não opinam, não decidem nada. Nem votam. Ah! Mas se elas pudessem...
Se pudessem, seria fácil. Eu mesma conhecia vários anjinhos...
A Tilica 1, que morreu de lombriga aguada, a Luzia 2, que morreu de bucho-virado, o Jorge 3, que morreu de cair no poço...
É. E tinha mais ainda e, por sorte, todos da minha cor. Seriam votos a meu favor, certamente. Fora a Ana, que era branca, o João Cláudio... Acho que até eles...
Mas não adianta ficar pensando. Criança só ouve quando pode.
O fato é que no céu todo mundo ficaria sabendo. Uma vergonha imensa invadiu-me toda, como no dia em que fui pega tentando descobrir a passagem do ovo do galo para a barriga da galinha. Credo em cruz!
Não havia mesmo outro jeito. O negócio era assumir logo de uma vez, tentar fazer tudo bonito e direito.
Comi depressa no almoço. Engoli quase inteiros os alimentos. Engasguei com as espinhas de mandiúva. Pus-me a escrever afoitamente. Aumentei. Criei quatro novos versos.
Os homes era teimosos
E os donos deles era bravo
Por isso a linda Isabel
Soltou tudo us escravo.
Reli os versos antigos e achei que deveriam ficar por último, para encerrar a declamação com o “Viva a Princesa Isabel”.
Ao meu poema, dei um título: “Santa Isabel”. Assim ficou:
Santa Isabel
Os homes era teimosos
E os donos deles era bravo
Por isso a linda Isabel
Soltou tudo us escravo.
Foi boa que nem um doce E parecia um mel
Acho que é irmã de Deus Viva a Princesa Isabel.
Em meia hora, havia decorado tudo.
Daí comecei a declamar pausadamente. Às vezes começava do fim e voltava para o começo. Tudo certinho. Nem um pulo nas frases, nem um gaguejar, nada.
No dia seguinte, coloquei meus escritos sobre a mesa para a apreciação da professora. Ela os pegou, leu, fez as correções ortográficas, como, por exemplo, colocar “ns” no final da palavra homes, concordar adjetivos etc. Devolveu-me.
— Decore que amanhã você recitará, certo?
Não contei que tudo estava na ponta da língua.
A festa seria depois do recreio, no dia seguinte. Mas, assim que entramos na classe, ela se pôs a falar sobre a data:
— Hoje comemoramos o fim da escravidão. Os homens e mulheres escravizados eram negros trazidos da África. Aqui eram forçados a trabalhar, e pelos serviços prestados nada recebiam. Eram amarrados nos troncos e espancados às vezes até a morte. Quando...
E foi ela discursando por uns quinze minutos.
Vi que sua narrativa não batia com a que nos fizera a Vó Rosária. Aqueles eram bons, simples, humanos, religiosos. Eram bobos, covardes, imbecis, estes me apresentados então. Não reagiam aos castigos, não se defendiam, ao menos.
Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa da classe representando uma raça digna de compaixão, desprezo!
Quis sumir, evaporar, não pude. Apenas pude levantar a mão suada e trêmula, pedir para ir ao banheiro. Sentada no vaso, estiquei o dedo indicador e no ar escrevi: “Lazarento”. Era pouco. Acrescentei “morfético”. Acentuei o e e voltei para a classe.
No recreio a Sueli veio presentear-me com uma maçã e a Raquel, filha do administrador da fazenda, ofereceu-se para trocar meu lanche de abobrinha abafada pelo dela, de presunto e muçarela.
Não os comi, é claro. A compensação desvalia. Não era como o leite, que, derramado, passa-se um pano sobre e pronto.
Era sangue. Quem poderia devolvê-lo... Vida?
Que se enxugasse o fino rio a correr mansamente. Mas como estancá-lo lá dentro, onde a ferida aberta era um silêncio todo meu, dor sem parceria?
Na hora da festa, estava um trapo.
No entanto, não me preocupavam mais os erros ou acertos, sucessos ou insucessos. Era a vergonha que me abatia. Pensava que era a grande da classe só porque era a única a fazer versos... Quantas vezes deviam ter rido de mim, depois das minhas tontices, em inventar cantigas de roda... Vinha mesmo era de uma raça medrosa, sem histórias de heroísmo. Morriam feito cães... Justo era mesmo homenagear Caxias, Tiradentes e todos os D. Pedros da História. Lógico. Eles lutavam, defendiam-se e ao seu país. Os idiotas dos negros, nada.
Por isso que meu pai tinha medo do seu Godói, o administrador, e minha mãe nos ensinava a não brigar com o Flávio. Negro era tudo mole mesmo. Até meu pai, minha mãe...
Por isso é que eu tinha medo de tudo. O filho puxa o pai, que puxa o avô, que puxou o pai dele, que puxou... E eu consequentemente ali, idiota, fazendo parte da linha.
Caí em mim com a professora falando:
— Esqueceu? Não faz mal. Na outra festa você recita. Logo chega o dia de Anchieta, do soldado... Vamos sentar. Não tem importância.
Levou-me com cuidado e me fez sentar numa
cadeira ao lado dos outros professores, na frente. Eu sentia muito sono e sede. Estranhei o fato de meu coração estar quieto, sem saltar para a garganta.
Apalpei o pescoço de todas as maneiras. Já ia constatar se estava no peito, mas desisti.
“Será que ele morreu? Para o inferno! Se quiser morrer, que morra”, pensei, olhando a sujeira do nariz, que saiu preguiçosa e caiu sobre as pregas estreitas da sainha azul novinha, novinha.
Naquele dia ninguém correu na volta para casa.
Iam todos à minha volta, preocupados porque eu não conseguia andar depressa. Sentia-me sem peso e, quando mudava o passo, achava que o chão à frente estava em desnível, longe, mole.
Quando cheguei em casa, minha mãe falou:
— Seu almoço está em cima do fogão. Depois você lava o prato lá no tanque que eu já estou indo lavar os trens.
Desvencilhei-me do material escolar e peguei o prato de comida.
Já ia saindo para jogar tudo para as galinhas do terreiro quando pensei que, se eu levasse o prato logo, minha mãe ia desconfiar, porque não se almoça em tão pouco tempo. Resolvi aguardar. Destampei a vasilha e comecei a remexer a comida. Separei os
grãos de feijão-preto com o cabo da colher e atirei-os no meio das labaredas que mantinham aceso o fogão. Depois atirei a comida no quintal e fui lavar o prato, como minha mãe havia recomendado.
Até então, as mulheres da zona rural não conheciam as esponjas de aço e, para fazer brilharem os alumínios, elas trituravam tijolos e, com o resultante, faziam a limpeza dos utensílios.
A ideia me surgiu quando minha mãe pegou o preparado e com ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo.
Assim que terminou a arrumação, ela voltou para casa, e eu juntei o pó restante e com ele esfreguei a barriga da perna. Esfreguei, esfreguei e vi que, diante de tanta dor, era impossível tirar todo o negro da pele.
Daí, então, passei o dedo sobre o sangue vermelho, grosso, quente e com ele comecei a escrever pornografias no muro do tanque d’água.
Quando cheguei em casa, minha mãe, ao me ver toda esfolada, deixou os afazeres, foi para o fundo do quintal, apanhou um punhado de rubim e, com a erva, preparou um unguento para minhas feridas.
Enquanto umedecia um paninho no preparado e colocava na minha perna, dizia:
— Deus me livre! Eu canso de falar: não sobe nos muros, não brinca de correr, e que nada! Entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece moleque. Mentira! Nem moleque faz isto. Vê se o Zezinho...
Eu ouvia sua voz distante, brava-doce. Bálsamo.
Dentro de uma semana, na perna só uns riscos denunciavam a violência contra mim, de mim para mim mesma. Só ficaram as chagas da alma esperando o remédio do tempo e a justiça dos homens.
Meu pai chegou do trabalho na lavoura, tirou do ombro o bornal com a garrafa de café vazia e sentou-se num degrau da escada da porta da cozinha.
Pediu-me que fosse buscar o rolo de fumo de corda que ia, enquanto esperava o jantar, preparar os cigarros para a noite e o dia seguinte.
Trouxe-lhe, e, ao desembrulhar o fumo, ele deu com a cara do Pelé sorrindo no jornal do embrulho. Enquanto desamassava o papel para ver melhor, disse-me:
— Este sim teve sorte. Lê aí pra mim, filha. Fala devagar senão eu não decifro direito.
Peguei o jornal e comecei a ler o comentário, que contava as façanhas esportivas do Pelé e dava algumas
informações sobre a vida fantástica do jogador. Muitas palavras eu não sabia o significado, mas adivinhava quando olhava no rosto do meu pai e ele soltava ameaços de risos, sem tirar o olho da mão trêmula que picava o fumo.
Quando terminei a leitura, ele disse:
— Benza Deus. Você viu só, minha filha? Era assim como nós. O pai dele é que deve não caber em si de orgulho. Vendo um filho assim, acho que a gente até se esquece das durezas da vida.
Deu um suspiro comprido e acrescentou:
— Se a gente pelo menos pudesse estudar os filhos...
Senti uma pena tão grande do meu velho que nem pensei para perguntar:
— Pai, o que mulher pode estudar?
— Pode ser costureira, professora... — deu um risinho forçado e quis encerrar o assunto. — Deixemos de sonho.
— Vou ser professora — falei num sopro.
Meu pai olhou-me como se tivesse ouvido uma blasfêmia.
— Ah! Se desse certo... nem que fosse pra eu morrer no cabo da enxada. — Olhou-me com ar de consolo. — Bem que inteligência não te falta.
— É, pai. Eu vou ser professora.
Queria que ele se esquecesse das durezas da vida.
Quando já cursando o Ensino Médio, eu chegava com o material debaixo do braço, via-o esperando por mim no início da estrada, na chegada da colônia.
Num desses dias, quando atravessávamos a fazendinha e falávamos sobre meu estudo, ele disse:
— Tem que ser assim, filha. Se nós mesmos não nos ajudarmos, os outros é que não vão.
Nisso ia passando por nós o administrador, que, ao parar para dar meia dúzia de prosa, cumprimentou meu pai e lhe falou:
— Não tenho nada com isso, mas vocês de cor são feitos de ferro. O lugar de vocês é dar duro na lavoura. Além de tudo, estudar filho é besteira. Depois eles se casam e a gente mesmo...
A primeira besteira ficou sem resposta, mas a segunda mereceu uma afirmação categórica e maravilhosa que quase me fez desfalecer em ternura e amor.
— É que eu não estou estudando ela pra mim — disse meu pai. — É pra ela mesmo.
O homem deu de ombros e saiu tão lentamente que quase ouviu ainda meu pai me segredando:
— Ele pode até ser branco. Mas mais orgulhoso do que eu não pode ser nunca. Uma filha professora ele não vai ter.
Sorriu, tomou minha mão e continuamos a caminhada.
— Pai, de que cor será que é Deus...
— Ué... Branco — afirmou.
— Mas acho que ninguém viu ele mesmo, em carne e osso. Será que não é preto...
— Filha do céu, pensa no que fala. Está escrito na Sagrada Escritura. A gente não pode ficar blasfemando assim.
— Mas a Sagrada Escritura...
Ele me olhou reprovando o diálogo, e porque não podia ir mais longe acrescentei apenas:
— É que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. O senhor é tão bom!
Em toda a minha vida, nunca vira meu pai rir tanto.
Riu um riso aberto, amplo, barulhento. Assim, rindo, foi até chegar em casa e, quando minha mãe o olhou de soslaio, disse para meus irmãos:
— Com certeza viu passarinho verde.
Como ele não parava de rir, todos aderiram e a sala ficou agitada e alegre.
Foi quando me escapou a emoção, dei um passo comprido e beijei a barriga da minha mãe. Diante do gesto incomum, todos ficaram me olhando, com jeito de espanto.
Fiquei envergonhada e fingi que tirava, com a unha, uma casquinha de coisa nenhuma escondida entre os dentes do fundo.
— Mãe, nasceu um carocinho aqui. Será que é cabeça de prego? Todo dia dá umas pontadinhas...
Ela imediatamente deixou a massa do pão sobre a mesa, lavou as mãos e veio. Levantou minha blusa e apalpou o caroço.
— Não é cabeça de prego.
— Pensei que fosse. O que será que é, então?
— Nada de mau. É assim mesmo.
Encerrou o assunto e eu procurei no rosto dela o que seria o tal caroço. Nenhuma mudança nas feições, nenhum sinal de preocupação. Se fosse alguma coisa grave, certamente ela ia chorar, mandar chamar meu pai no trabalho, fazer qualquer coisa.
Como tudo continuou normalmente, acalmei-me amparada pela certeza da sabedoria dela.
Mas os dias foram passando e a dita-cuja bolinha, em vez de sumir, crescia e doía cada vez mais. Voltei às antigas preocupações.
Apelei então para a bondade e vivência da minha irmã Maria, que estava passando uns dias em casa com os filhos.
— Maria, o que será que é, então?
— O quê?
— Este carocinho aqui no meu peito. A mãe falou que não é nada, mas não para de doer e cada dia está mais inflamado.
A Maria olhou-me sem muito interesse e respondeu com paciência:
— A mãe falou a verdade. Não é nada mesmo. — Riu encabulada. — É que está nascendo mamica em você. Logo, logo está do tamanho do meu. Olha aqui.
Apontou os seios enormes e eu, envergonhada, cruzei os braços sobre o peito, para esconder os meus, que despontavam incautelosamente.
Certa, então, de que não era portadora de nenhuma doença grave, esqueci-me completamente dos caroços. Dias depois, em plena aula de Matemática, comecei a sentir umas dores esquisitas na
barriga. Foram aumentando, e, quando vi que não aguentava mais, falei com a diretora e pedi para ir para casa. Minha mãe saberia fazer algum chá para acabar com aquela dor.
Saí pela estrada, zonza e angustiada. Quando a dor aumentava, eu parava e esperava até que diminuísse, depois retomava a caminhada e ia, até que de novo desse a maldita cólica.
Já pertinho de casa, senti alguma coisa escorrendo entre as minhas coxas. “Acho que estou com a urina solta”, pensei.
Parei e entrei no canavial para ver. Ergui a saia e deparei com minha calcinha, minhas pernas ensanguentadas.
Fiquei apavorada. Que seria aquilo, meu Deus? Por que saía tanto sangue de dentro de mim, sem mais nem menos?
Não tive dúvidas. Dessa vez era doença gravíssima, sem possibilidade nenhuma de cura.
Saí correndo. Queria voar para chegar o mais rápido possível.
A porta da cozinha estava encostada e, num só empurrão, escancarei-a.
Ela mexia alguma coisa na panela. Olhou-me assustada, esperando explicação pela postura incomum.
— Mãe, olha... Acho que arrebentou tudo quanto é veia. Me ajuda!
Ela abandonou o que fazia, sentou-se na taipa do fogão e meio sem jeito começou a explicar:
— Você virou mulher, besta. Pra todo mundo é assim. Eu, a Arminda, a Iraci, a Maria, a Cecília, até a Cema passamos por isso. É assim mesmo que acontece.
Parou de falar e esperou que eu me acalmasse. Pegou na minha mão e tomou o caminho do tanque, onde lavava toda a roupa da família.
Arrancou-me todas as peças e enfiou-me embaixo da torneira. Esfregou as mãos sobre meu corpo e brincou acanhada:
— Menina exagerada, credo! Agora acabou a brincadeira. Você não pode mais ficar brincando com os moleques e sentar com a perna que nem leque. Não é mais criança. Tem que tomar modos de gente. Quando a gente vira...
Ela foi falando, falando, falando. Eu fiquei olhando meu sangue de menina escorrer lentamente, misturar-se à água da torneira e sumir no ralo do tanque.
Ia-se minha criança, deixando-me abobalhada e sonsa, sem tempo de mais um brincar de roda, mais uma viagem no balanço. Fiquei ali de boca aberta. Mulher, como me contaram. Apenas.
Mulher, terminando o Ensino Médio.
Mulher, cursando o Magistério, a caminho do professorado, cumprindo o prometido.
Mulher, se fazendo, sob imposições, buscando forças para ser forte.
Mulher, rindo para esconder o medo da sociedade, da vida, dos deslizes dos passos.
Mulher, cuidando da fala, misturando palavras, pronúncias suburbanas aos mil modos de sinônimos rolantes no tagarelar social requintado.
Mulher, jogando cintura, diante das coações e dos preconceitos.
Mulher, apesar de tudo, a um passo do tesouro: o cartucho de papel.
Para dezembro foi marcada a data para realização do evento.
Minha colação de grau.
Em casa conversamos e decidimos que todos da família estariam presentes.
Discutimos o ter que calçar e vestir todo mundo adequadamente, como exigia a ocasião.
Fizemos o balanço e, vendo a escassez do dinheiro, concordamos no seguinte: só compraríamos tudo novo para mim. Os outros só comprariam aquilo que não tivessem mesmo, de jeito nenhum. Portanto, compramos roupa para um, sapato para outro e assim por diante.
A Cecília tinha dois vestidos de sair e a Cema dois pares de sapatos, porque tinha ganho um da sua madrinha de crisma. Então, minha mãe usaria um dos vestidos da Cecília e um dos pares de sapato da Cema.
Para meu pai compramos um terno lindo, azul. Compramos ainda uma gravata listrada e um par de meias brancas. Emprestamos para ele o sapato do cunhado Zé e cerzimos uma camisa branca que só tinha uns rasgadinhos na gola.
No dia, todos estavam nervosos, mas arrumaram-se muito cedo para a cerimônia.
Meu pai cortou o cabelo do Zezinho, do Dirceu e dos outros homens da família. Depois o Joãozinho cortou o do meu pai.
Tanta gente e tanto esmero na arrumação fizeram com que chegássemos ao local do evento em cima da hora.
Indiquei-lhes o lugar onde deveriam ficar e fui ocupar o meu, entre os formandos. De onde estava, via-os todos, incomodados nos trajes de missa.
Vez em quando, encorajava-os com um riso. Meu pai, ao lado da minha mãe, estava pleno, altivo, sereno. Com os olhos, acompanhava todos os meus movimentos, engolindo salivas de prazer.
Minha mãe me bebia através dos ares do meu pai, que, embevecido, ajeitava a gola da camisa, propositalmente, me segredando que estava feliz.
Fui chamada para receber o certificado. Eles, meus pais, não se puderam conter só com as palmas. Levantaram e me aplaudiram em pé. Mãos abertas, barulhentas, livres.
Meus irmãos, contagiados, perderam a timidez e também se puseram em pé, me aplaudindo e apontando, como se só eu existisse ali, como se no momento eu estivesse me apossando da chave do céu.
O diretor esperou pacientemente até que eles percebessem o ultrapassar do limite e fossem, um a um, retomando seus lugares nos bancos.
Terminada a entrega dos certificados, fui convidada para discursar, por ter sido escolhida para oradora da turma.
De novo, meu pai ficou em pé, desatou o nó da gravata e assumiu postura de rei. Para melhor me ouvir, esqueceu a etiqueta, fez conchas com as mãos e envolveu as orelhas.
As formalidades todas terminaram. Fui até eles para voltarmos juntos.
Eu, princesa, entreguei meu certificado ao rei,
que o embrulhou no lenço de bolso e passou a carregá-lo como se fosse um vaso de cristal.
Em casa, tomados de euforia, começamos a relembrar os acontecimentos da festa. Rimos das palmas fora da hora, das mãos do meu pai segurando as orelhas, da cara do diretor ao vê-los donos do ambiente.
Determinada hora, minha mãe interrompeu nossa sadia algazarra e disse:
— Agora é que vocês vão dar risada de verdade — cutucou meu pai. — Mostra pra eles, Mariano.
Ele, fingindo brincar de mágico, retirou os sapatos dos pés e nos mostrou: duas bexigas enormes desfiguravam seus calcanhares e algumas escoriações marcavam toda a região no peito dos pés.
Fiquei estática. Tudo aquilo por mim, para mim. Toda aquela dor para me ver receber o certificado. Não me contive.
— Perdão, pai.
— Perdão do quê? Eu é que peço perdão. Imagine só... esquecer de usar a meia. Já pensou se um dos seus amigos visse? Deus me livre de te envergonhar!
Pensou um pouco e arrematou a conversa:
— E quer saber de uma coisa? Se precisar, enfio de novo o desgraçado do sapato do Zé no pé, sem meia e tudo, e volto lá pra bater todas aquelas palmas de novo.
Novamente, leve onda de riso encheu a sala. O Dirceu pediu a bênção e se retirou para dormir. Todos fizeram a mesma coisa, e eu já estava para imitá-los quando vi meu pai procurando alguma coisa.
— O senhor queria alguma coisa, pai?
— Estou vendo onde foi que guardei o danado do diploma. Vou dormir com ele debaixo do travesseiro que é pra sonhar sonho bonito.
Com o certificado na bolsa, saí para procurar emprego.
Consegui numa escola substituição para o ano todo.
Dar aulas numa classe de segundo ano que “sobrou”
das professoras efetivas, por optarem por alunos maiores e em processo de alfabetização mais avançado.
No pátio do estabelecimento, tentando engolir o coração para fazê-lo voltar ao peito, suportei o olhar duvidoso da diretora e das mães, que, incrédulas, cochichavam e me despiam em intenções veladas.
Só faltaram pedir-me o certificado de conclusão “para simples conferência”.
Soou o sinal de entrada e meus pequerruchos entraram barulhentos, agitados.
Só uma menina clara, linda, terna, empacou na porta e se pôs a chorar baixinho. Corri para ver se conseguia colocá-la na sala de aula.
— Eu tenho medo de professora preta — disse-me ela, simples e puramente.
Tanto medo e doce misturados desarmaram-me. Procurei argumentos.
— Vou contar pra você histórias de fadas e...
— O que aconteceu? — Era a diretora, que, devido ao policiamento, chegou na hora H.
Contei-lhe o ocorrido e ela prontamente achou a solução.
— Não faz mal. Eu a coloco na classe da outra professora do segundo.
Reagi imediatamente. Acalmei-me e socorri-me.
— Por favor. Deixe que possamos nos conhecer. Se até a hora da saída ela não entrar, amanhã a senhora pode levá-la.
A diretora aceitou minha proposta e saiu apressada.
Vi, então, que era muito pouco tempo para provar a tão nova gente minha igualdade, competência. Mas algum jeito deveria existir.
Eu precisava. Precisava por mim e por ela.
Os outros aluninhos se impacientaram e eu
comecei meu trabalho, com a pessoinha ali, em pé na porta, me analisando, coagindo com os olhinhos lacrimosos, vivos, atentos. Pedia explicações, punha preço e tinha pressa.
Assim prensada, fui até a hora do intervalo para o lanche, falando, falando. Olhava para a classe, mas falava para ela. Inventei o primeiro dia de aula sonhado na minha infância conturbada.
Alegria de aprender, desenhar. Sabores gostosos dos lanches, brincadeiras e cantos brincados, cantados nas mentiras inocentes, quando sonhar era pensar que acontecia.
Na hora do recreio, enquanto os outros professores tomavam o cafezinho e comentavam o andamento das aulas, fiquei no pátio.
Talvez ali me viesse alguma ideia.
Vi-a entre as outras crianças. Aproximei-me e pedi-lhe um pedaço do lanche. Deu-me, indecisa, meio espantada.
Resolvi dar mais um passo.
— Gostaria que você entrasse na classe depois. Assim você senta na minha cadeira e toma conta da minha bolsa enquanto eu trabalho.
Saí sem esperar resposta. Medo.
Logo mais retornamos à sala de aula.
Ela sentou na minha cadeira, colocou seu material ao lado do meu. “Precisei” de uma caneta. Pedi-lhe. Abriu minha bolsa como se arrombasse cofre, pegou e entregou-me a caneta solicitada. Meio riso na boca.
Durante a aula pedi que levantasse a mão quem soubesse desenhar.
Todos levantaram as mãozinhas. Constatei. Ela também sabia.
Desenhou um cachorro retangular e sem rabo.
— Seu cachorro é uma graça — disse-lhe rindo. — Ele não tem rabo?
— Não é meu. É da minha avó. Quando meu avô bebe e fica bravo, ele corre e enfia o rabo no meio das pernas.
Baixou a cabeça e pintou o cachorro de azul.
Ao término da aula, arrumou o material sem pressa. Percebi que amarrava os passos e tentava ficar afastada das outras crianças.
Alguma coisa tinha para dizer-me. Impacientei-me. Sabia que, fosse o que fosse, eram respostas às minhas perguntas indiretas.
Decidiu a hora, segurou na minha saia e pediu:
— Amanhã você deixa eu sentar perto da minha prima Gisele? De lá mesmo eu cuido da bolsa da senhora. Amanhã eu vou trazer de lanche pão com man teiga
de avião, a senhora gosta de lanche com manteiga de avião na lata?
— Adoro.
— Vou dar um pedaço grandão pra senhora, tá?
— Obrigada.
Combinamos.
— Até amanhã.
— Até amanhã.
Dia seguinte, lá estava ela. Primeira da fila, leve e doce.
Ao me ver, deu uns passos, querendo vir ao meu encontro, mas a inspetora de alunos segurou-a pelo braço e fez com que retornasse ao seu lugar, porque já havia dado o segundo sinal.
Olhei-a e sorri. Ela, disfarçadamente, com medo da advertência da inspetora, apenas apontou com o dedo a lancheirinha vermelha, me provando que havia cumprido o trato. Estava ali meu lanche de pão com manteiga de avião.
Foi quando, com nitidez nunca sentida, entendi tudo o que meu pai me ensinara, nas suas palavras curtas, nas suas parábolas decifradas na cartilha da existência.
E sentimentos placentários escaparam do útero, meu útero das minhas raízes, que grafaram as leis regentes de todos os meus dias.
Sou, desde ontem da minha infância, bagagem esfolada, curando feridas no arquitetar conteúdo para o cofre dos redutos.
Messias dos meus jeitos, sou pastora do meu povo cumprindo prazerosa o direito e o dever de conduzi-lo para lugares de harmonia. Meu porte de arma tenho-o descoberto e limpo entre, em cima, embaixo e no meio do cordel das palavras.
A cor da ternura é um livro de Geni Guimarães, uma escritora brasileira negra, que narra de forma ficcional a história de sua infância pobre, sofrida, permeada de preconceito. Por meio de uma prosa poética singela, ela apresenta uma grande lição de humildade sobre como sobreviver com ternura num país marcado pelo racismo, como o nosso.
A pequena Geni — a protagonista desta história, que não por acaso tem o mesmo nome da autora do livro — vive experiências profundas como mulher negra e pobre no Brasil. É inconcebível que, mesmo passados mais de cento e trinta anos da Abolição da escravatura, os negros ainda tenham de lutar por igualdade e respeito, pois ainda são desvalorizados e humilhados. Infelizmente, isso acontece também em outros países. Basta pesquisar nos sites de notícias ou nas redes sociais para ver e sentir como esse problema é vasto, chocante e injusto. Não tem nada de ternura no racismo. Não tem nada de ternura no machismo. Não tem nada de ternura no preconceito contra os pobres. E são justamente esses três tipos de preconceitos que Geni sofre, pois ela é preta, é mulher e é pobre.
A gente consegue se sentir na pele da personagem Geni ao ler A cor da ternura, pois a autora Geni Guimarães, ao rememorar suas lembranças de infância e juventude, nos transporta para uma realidade em que buscar ternura tornou-se mais importante do que tudo. É assim que a pequena Geni cresce: buscando na ternura de seus familiares e na companhia dos animais uma esperança para enfrentar as situações embaraçosas de seu dia a dia.
Como veremos a seguir, nas páginas de A cor da ternura está muito presente a abordagem dos encontros com a diferença, assim como o tema sociedade, política e cidadania.
A história se passa numa fazenda no interior de São Paulo, onde a família de Geni trabalha na colheita de café. A menina, ainda pequena, sente ciúmes do irmão que a mãe carrega na barriga, mas aprende, na companhia de sua amiga aranha, a enxergar os outros com os olhos de dentro — e, depois que o irmão nasce, o coração de Geni passa a se encher de ternura pelo bebê. Nessa época, os melhores amigos dela são mesmo os bichos. Ela aprende muito com eles e sabe imitá-los como ninguém. Sua família acha que ela está doente, pois anda e fala como os animais!
Geni é enviada para um tratamento com a benzedeira Chica Espanhola. Ela não perde a vontade de se comunicar à moda animal, mas aprende a camuflar seus latidos e a engolir seus miados. Aos poucos, Geni vai crescendo e, junto,
cresce sua ânsia por explorar o mundo, por viajar. Ela quer conhecer o mar! Banhar-se nas ondas, lamber o sal e rolar na areia branquinha! Na impossibilidade de fazer a viagem de verdade, ela se imagina na praia de Santos, conversando com o mar, enquanto brinca no balanço.
Geni vai para a escola e sofre bullying de seus colegas, que a xingam de “boneca de piche”, “cabelo de palha de aço” e “negrinha”. A garota não quer mais ser tratada daquele jeito grosseiro e violento. Até a professora, durante a aula sobre escravidão, disse que os negros escravizados eram “bobos, covardes, imbecis”. Será que, se Jesus fosse negro, e não branco como os adultos disseram a ela, a situação seria diferente?
Mas a menina sabia, por meio das histórias antigas e ancestrais que sua avó Rosária contava sobre a escravidão, que os negros não eram nada daquilo... Com o passar do tempo, Geni aprende a valorizar sua origem negra. Descobre uma força imensa no seu coração, que vem do carinho e dos conhecimentos ancestrais da mãe sobre chás e plantas medicinais; do incentivo do pai para ela não parar de estudar; e, também, das histórias que Vó Rosária contava sobre os tempos antigos da escravidão — histórias estas tão diferentes das que ela escutava na escola.
A adulta Geni torna-se, então, professora (sua colação de grau é um acontecimento na família!). Passa a ensinar seus alunos com respeito e ternura, para que as crianças também aprendam a enxergar os outros com os olhos de dentro, com a alma. Mas, de repente, uma de suas alunas começa a chorar, não quer entrar na classe porque
tem “medo de professora preta”... Geni, aos poucos, com toda a força e o amor que aprendeu a cultivar dentro de si, consegue conquistar a confiança e a atenção da menininha. Pura ternura!

Que cor você daria para a ternura? Poderia ser encantadoramente multicolorida, como um arco-íris que abraça o céu ou como a plumagem de alguns pássaros.
Zumbi e saci: criaturas do mal?
No livro, Geni se sente em casa na companhia dos animais, está sempre conversando com eles e imitando-os. Por causa desse comportamento, sua família acha que ela está possuída pelo espírito maligno de Zumbi, um “coisa-ruim”. Mas... Zumbi é mesmo um espírito do mal? Você sabe quem foi Zumbi?
Zumbi dos Palmares foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que o Brasil já teve, com cerca de 20 mil habitantes. E você sabe o que era um quilombo? Na época da escravidão, era um local bem escondido no meio da mata, para onde os escravizados fugiam a fim de formar uma comunidade só deles. Lá eram livres para praticar as crenças, os valores e costumes trazidos de diversas regiões da África. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do
século XVI, numa região entre Pernambuco e Alagoas, e resistiu a muitas invasões, exceto a dos portugueses no final do século seguinte, em 1694, que destruíram o lugar. O líder, Zumbi, lutou contra todas as tentativas de invasão, mas acabou sendo morto em uma emboscada. Isso aconteceu em 20 de novembro de 1695, data que séculos mais tarde foi escolhida para celebrar o Dia da Consciência Negra.
Os quilombos atuais, a propósito, não são como os quilombos de antigamente. Na época da escravidão, eram territórios bem escondidos no meio da mata para que nenhum senhor de escravos pudesse encontrá-los e destruí-los. Hoje os quilombos, ou assentamentos quilombolas, são remanescentes dos quilombos antigos, porém as pessoas que vivem nesses assentamentos não estão mais fugindo de ninguém. Elas se reúnem em comunidade para partilhar de uma vida em conjunto e honrar sua ancestralidade, mantendo e valorizando a cultura quilombola. Assim como os indígenas atuais, lutam para ter seus territórios protegidos por lei, bem como seus direitos de cidadania e participação na sociedade.
Dito isso, você acha que Zumbi poderia, de alguma forma, ser um espírito do mal? Só se for nos filmes de terror, em que a palavra é sinônimo de morto-vivo, um ser que assusta todo mundo! Mas a pessoa conhecida no Brasil como Zumbi foi imortalizada como um dos grandes patronos do povo preto. A palavra “zumbi”, ou “zambi”, tem sua origem no idioma quimbundo (falado em Angola) e significa “espírito”, nome que foi atribuído ao líder quilombola devido à ideia de imortalidade. Zumbi foi imortalizado por
sua luta, que é lembrada até hoje por todos os que combatem o racismo!
E o saci? Ah, esse moleque negro e sapeca, de uma perna só, que fuma cachimbo e tem um gorro vermelho, todo mundo conhece! É um personagem bastante presente nos mitos brasileiros, certo? Na página 40 de A cor da ternura , Geni fala sobre o saci com muito medo, devido à má fama dele: “Ele vinha nos redemoinhos, roubava os filhos das mães e sumia com eles”. Mas depois, na página 42, ela mesma pensa que “o saci até poderia não ser tão ruim quanto diziam”. E é verdade, se é que podemos falar em verdade quando se trata de mitos. Como diz Monteiro Lobato, citado pela especialista em lendas brasileiras Januária Cristina Alves: “O saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça” (2017, p. 21).
No livro A cor da ternura, podemos nos aprofundar em importantes questões da existência humana. “Existirmos: a que será que se destina?”, nos pergunta a canção “Cajuína”, de Caetano Veloso. Bem, existir no planeta Terra é o modo como conseguimos sobreviver. Uns sobrevivem com muitos recursos materiais; outros, com poucos; e ainda há aqueles que não têm nenhum recurso e dependem de doações e políticas públicas para sobreviver.
A autora Geni Guimarães passou uma infância difícil, com poucos recursos materiais. Ela se inspirou nas próprias lembranças para criar a narradora protagonista deste
livro, a qual também se chama Geni, e o resultado foi este romance que você tem em mãos, com um enredo inspirado na vida da própria autora. A seguir, vamos aprender um pouco sobre as origens do romance, mas, antes, uma pergunta para você ir pensando: por que um romance afro?
A palavra “afro” refere-se às pessoas afrodescendentes, que descendem de negros africanos, como são a autora e a protagonista de A cor da ternura. Elas trazem ao leitor grandes reflexões sobre a cultura afro-brasileira, sobre racismo e preconceito, submissão e violência velada. Nossa protagonista negra sente-se cansada de brincar de faz de conta, de fingir que está tudo bem, aceitando o racismo como “normal”. Não, não é normal, e isso deve ser dito em alto e bom som. A cultura negra pode e deve mostrar seu valor, seu vigor — eis uma mensagem mais do que importante deste romance afro. Axé!
A cor da ternura pode ser classificado como um romance, como já dissemos aqui. Porém, a palavra “romance” pode causar alguma confusão. Com frequência, ela é utilizada para descrever a relação afetiva, amorosa, que une um casal. Essa palavra também define o gênero cinematográfico daquelas histórias de amor que terminam com final feliz. O livro de Geni Guimarães não tem um romance desse tipo, afinal, ao longo da narrativa não conhecemos nenhum casal romântico. Mas… isso não é motivo para ele não ser um romance. Como você já deve ter estudado, romance é um gênero literário.
Em geral, o texto literário de ficção em prosa apresenta os seguintes elementos estruturais: enredo (de que modo os fatos da história, breve ou longa, estão conectados); personagens (em pouca ou grande quantidade); foco narrativo (quem conta a história e a partir de que ponto de vista); espaço (onde a trama se desenrola); e tempo (uma vida inteira, um dia ou até um segundo da existência de um personagem, por exemplo). Esses elementos são como os ingredientes de um bolo: o autor pode criar bolos enormes ou pequenos bem-casados, variando a quantidade, a variedade e a combinação dos ingredientes.
Os elementos estruturais da narrativa literária são trabalhados de forma diferente num romance e num conto. O romance é uma narrativa mais longa que geralmente envolve um número maior de personagens e de conflitos, além de tempo e espaço mais extensos. É assim que acontece com Geni, que realiza uma jornada extensa desde bebê, passando por diversas situações em família, na escola e no bairro, antes de crescer e se tornar professora. O foco narrativo viaja com as histórias que Geni conta, assim como com as reflexões que ela, a avó dela, a mãe, a aranha, a professora e os colegas proporcionam ao leitor. Já o conto, repare, é uma narrativa curta e sua característica principal é a condensação total dos elementos narrativos: poucos personagens, enredo breve, espaço e tempo bem delimitados.
Se você observar as listas de livros de literatura mais vendidos, geralmente publicadas em jornais, revistas, livrarias, sites e outros espaços físicos ou virtuais, vai perceber que o romance é a forma literária dominante entre as
preferidas do público. É raro livros de poesias ou de contos se tornarem best-sellers — embora tanto a poesia como o conto sejam gêneros muito conhecidos e antigos. A história desses gêneros, inclusive, se mistura com a história da própria humanidade.
Já a história do romance é bem mais recente. Para muitos estudiosos, o primeiro romance teria sido Dom Quixote de la Mancha, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616). A primeira edição de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (título original em espanhol) foi publicada em 1605. O sucesso da obra que conta as aventuras do cavaleiro andante foi enorme.
Para o teórico italiano Franco Moretti, a passagem do verso para a prosa foi crucial para o desenvolvimento do romance moderno: “O que a prosa significou para o romance?
Ela permitiu que o romance jogasse em duas mesas completamente diferentes — popular e erudita —, fazendo dele uma forma adaptável e bem-sucedida como nenhuma outra” (MORETTI, 2009, p. 203).
Na época de Cervantes, a expansão de tipografias, de vendedores de livros e, principalmente, de leitores já permitia que centenas de romances em prosa fossem escritos, impressos e consumidos por milhares de pessoas. Um dos segredos da popularidade do romance está justamente na identificação que o público leitor tem com os personagens: o ser humano comum se torna o centro da narrativa — ao contrário da epopeia, que fizera sucesso desde a Antiguidade, com deuses e heróis como personagens, e acabou sendo substituída justamente pelo romance.
Um século depois da publicação de Dom Quixote, o gênero romance enfrentou polêmicas e questionamentos: críticos o consideravam muito estranho e perigoso, por ser lido por pessoas que não tinham formação erudita — ou seja, a maioria dos leitores. E se os leitores começassem a imitar os personagens dos romances, que viviam se metendo em confusões?
Além disso, os críticos estavam acostumados às regras bem consolidadas de gêneros como a poesia e o drama. Para eles, o romance era um bicho de sete cabeças. Afinal, o gênero não tinha regras claras: era escrito em prosa, mas frequentemente incorporava poemas, além de outros gêneros como cartas, diários, sermões etc.
Aliás, essa característica do romance moderno existe desde o seu surgimento. Dom Quixote é um romance que abrange poemas, contos e cartas, entre outros gêneros de escrita. Com o passar dos séculos, o gênero foi incorporando novos gêneros que surgiam, como a reportagem, a crônica, as colunas sociais e, mais recentemente, os sites, os blogs e as postagens em redes sociais. Isso para não falar de ilustrações, fotografias, colagens e outras artes visuais.
O romance é, assim, considerado um gênero híbrido, ao reunir diversos gêneros discursivos no mesmo texto. Às vezes, assume a forma de roteiro de viagens, diário, lenda ou blog, entre muitos outros. Outras vezes, é construído por meio de uma mistura de vários gêneros. Há romances extremamente extensos, que se desenrolam em vários volumes, e outros bem mais curtos, que mais parecem contos alongados, como A cor da ternura. E há aqueles escritos em
forma de diário, de cartas trocadas entre os personagens ou de entrevistas, blogs e diálogos por telefone. Outra característica do hibridismo romanesco é a mistura de ficção e realidade, que compõe a trama de muitos romances de nosso tempo. É o caso, como vimos, de A cor da ternura.
O debate a respeito da possível influência negativa do romance sobre os leitores durou muito tempo e talvez ainda ocorra nos dias de hoje. Já a polêmica sobre o valor estético do gênero foi diminuindo com o tempo. No século XX, por exemplo, o romance já não era mais considerado um gênero inferior aos demais. Longe disso: passou a ser valorizado pela crítica, premiado em concursos e ensinado nas escolas. Está firme e forte, cativando mais leitores a cada dia que passa!
A vida imita a arte imita a vida
Embora a autora Geni Guimarães possa não ter planejado uma finalidade escolar para sua obra, A cor da ternura permite o trabalho em sala de aula com temas muito importantes e adequados a estudantes do 80 e do 90 anos do Ensino Fundamental, como você. Isso porque o enredo trata de uma questão fundamental — a discriminação racial — e aborda com profundidade assuntos pertinentes à adolescência, tais como: tolerância, convivência com a diversidade, autoconfiança, identidade, superação de desafios e projeto de vida. Através dos olhos da menina Geni, somos levados a um mundo de racismo, paternalismo, opressão à mulher e desigualdade social. Mas também somos levados a um mundo de diversidade cultural, sonhos,
sensibilidade, vigor, beleza e muita ternura. Esse contraste é um dos elementos que constituem a beleza poética do romance.
A cor da ternura tem traços autobiográficos, mas é uma obra de ficção. Nesse tipo de texto, o autor tem liberdade para inventar o que quiser, desde que de forma verossímil, adequada às convenções do gênero e às exigências do enredo. Em outras palavras, a narrativa precisa parecer verdadeira e estar estruturada de acordo com as características de um romance. Por exemplo: em um romance, parece verdadeiro que uma pessoa se transforme num monstro e saia por aí assombrando todo mundo — é verossímil, atende às normas do gênero romance de terror. Em um romance realista que se passa na Ucrânia atual, porém, se aparecer uma arara, que é uma ave tropical, teremos uma inverossimilhança, um rompimento com as convenções do gênero literário. O autor também pode e deve trabalhar com as lacunas nas descrições, nas explicações dos acontecimentos e nas relações de causa e efeito, de modo a instigar o leitor a contribuir com a criação da obra durante a leitura.
O leitor de um romance como A cor da ternura desenvolve um papel ativo em sua leitura. O bom texto literário tem múltiplas camadas de profundidade, que vão se revelando conforme lemos — e relemos — a narrativa. Esse tipo de texto costuma nos fazer muitas perguntas e não nos oferece respostas simples ou específicas. Ainda que o desenrolar da história criada por Geni Guimarães apresente situações de conversa entre os personagens envolvidos na trama, muitos diálogos internos ainda ficam
para o leitor, por exemplo: o que mais pode ter ocorrido com a professora Geni em seu primeiro dia de aula? O que será que aconteceu com ela no fim da história? E após o fim da história, o que terá havido? O que pode ter acontecido antes do início da narrativa? O que o narrador pode ter omitido do leitor?
Além disso, em um texto literário, é fundamental a preocupação com a escolha, o uso e a sonoridade das palavras, com o aspecto visual e com a organização das palavras na frase, das frases no parágrafo e dos parágrafos no capítulo. O texto literário tem uma estética própria, que retira a linguagem de seu aspecto puramente funcional, aquele que utilizamos no dia a dia para nos comunicarmos, como em um manual de instruções ou em uma mensagem de e-mail.
Uma narradora vigorosa
De modo geral, o narrador de uma história pode narrar os acontecimentos em primeira ou terceira pessoa. Ele pode ser um dos personagens, pode ser onisciente ou observador, variando conforme o ponto de vista escolhido pelo autor. O importante é nunca confundir: o narrador não é o autor da história; ele é um ser ficcional que existe unicamente no texto e foi criado pelo autor.
A cor da ternura é um romance narrado em primeira pessoa, ou seja, contado por um personagem que participa da história, a menina Geni. A narrativa pode variar entre as vivências do próprio narrador e as de outro personagem, conforme as necessidades do enredo. Assim, Geni conta sua história de vida em uma fazenda no interior de
São Paulo mas também relata suas experiências com outros personagens, dialogando com eles o tempo todo. Tudo isso em prol de uma história dinâmica para o leitor.
Ao prestarmos atenção no tempo da narrativa de A cor da ternura, aprendemos algo muito importante sobre o que o ato de contar histórias e a literatura têm de especial. Os eventos da vida seguem uma sequência cronológica: o relato de Geni, por exemplo, parte de quando ela ainda mamava no peito da mãe, perpassa sua infância e a chegada de um irmão, fala de seu ingresso na escola e chega à vida adulta dela, como professora.
Os escritores, porém, para produzir em seus leitores os efeitos de sentido que desejam (suspense, emoção, aventura, medo etc.), reorganizam os acontecimentos da vida de seus personagens e os contam na sequência que julgam mais eficiente, a qual raramente é linear. Um romance policial, por exemplo, pode iniciar com a exposição de um assassinato e, depois, voltar no tempo para mostrar como ele foi cometido. O romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, começa por anunciar que o narrador está morto, para depois contar sobre sua vida.
Se você parar para pensar, vai perceber que, quando conta um caso engraçado ou uma aventura do cotidiano para os amigos da escola, por exemplo, também usa a estratégia de escolher a sequência mais apropriada para obter o efeito que espera de quem ouve sua história. Escritores fazem isso de forma planejada e consciente, como você também pôde notar neste livro. A autora avança por uma linha do tempo, indo da infância à fase adulta, mas também traz
a ancestralidade da menina por meio das palavras da Vó Rosária — ou seja, é um livro linear que retoma o passado ancestral da escravidão. A narrativa, então, dá um salto em direção ao passado longínquo, que não é o momento presente do relato: é muitas décadas para trás! E Vó Rosária valoriza esse passado ancestral de sua família, contrastando com o momento presente que Geni vivencia na escola. Por fim, Geni aprende com as histórias do passado que a avó lhe conta e consegue enxergar que sua professora está errada quando ensina a história dos negros.
Outra ruptura no tempo cronológico da narrativa acontece nos momentos em que o texto adentra o tempo psicológico, que não segue a marcação do relógio mas as vivências, pensamentos e imaginações da protagonista. É o caso, por exemplo, das passagens em que Geni se imagina na praia de Santos ou conversa com a aranha.
Professora e escritora que representa!
Geni Guimarães nasceu numa fazenda chamada Vilas Boas, no município de São Manuel, interior de São Paulo, em 8 de setembro de 1947. Quando tinha cinco anos, seus pais se mudaram para outra fazenda, em Barra Bonita, onde ela mora até hoje. Era uma família numerosa, com nove irmãos. Já Geni tem apenas dois filhos e quatro netos.
Bem antes de frequentar a escola oficial, ela “lia” poesia e histórias em todos os livros, revistas e jornais que encontrava. Ao entrar na escola, para sua surpresa, o professor lhe contou que ela era poeta. Vendo que isso era bom, Geni
entrou de cabeça no caminho da poesia. Ainda na adolescência, publicou poemas e contos nos jornais da região e, em 1979, conseguiu publicar seu primeiro livro, Terceiro filho , que contém poemas da meninice e adolescência. Da flor o afeto, da pedra o protesto foi lançado em 1981, já com poemas mais decisivos, seguros. Pouco mais tarde, conforme ela entrava em contato com escritores negros como ela, seu trabalho foi tomando uma forma mais robusta, definida pela identidade da negritude e pelo conhecimento mais profundo das causas pelas quais lutava.
Por consequência, Geni foi convidada a participar de várias antologias e de eventos culturais no Brasil e no exterior. A IV Bienal Nestlé de Literatura promoveu a oportunidade para que ela fosse convidada pela Secretaria da Cultura de Colônia, na Alemanha, a mostrar seus trabalhos no projeto As Diferentes Faces da América Latina (1988) — um encontro com autores e diretores de cinema brasileiros. Esse trabalho no exterior foi muito importante para sua literatura decolar.
“Sei que o ato de escrever é o veículo de exteriorização da nossa consciência de mundo, da situação de um povo na sociedade egoísta e separatista, e pode, com isso, motivar mudanças significativas, já que temos direitos e deveres iguais”, diz Geni. A partir dessa reflexão, ela foi buscar a menina das fazendas que habita sua alma e escreveu A cor da ternura. Sua literatura tem sido considerada essencial para uma educação inclusiva e transformadora.
Quem procura acha!
Com A cor da ternura, Geni Guimarães ganhou o Prêmio Jabuti de 1990 na categoria de Autor Revelação em Literatura Juvenil. De fato, pela qualidade do texto de Geni Guimarães, que envolve e encanta leitores de todas as idades, a obra é um exemplo de como a literatura pode nos ajudar a compreender com os “olhos de dentro” questões de fundamental importância na atualidade, como é a discriminação racial no Brasil. E o livro consegue trazer as reflexões com naturalidade, sem prejudicar a fruição literária e o prazer que surge de uma leitura enriquecedora.
A narrativa da autora Geni Guimarães e da protagonista Geni é pura emoção. Prende a nossa atenção do começo ao fim e nos convida a nos colocar no lugar delas, a sentir empatia por Geni. Afinal, o que é empatia senão a palavrinha mágica que rege este livro? Estamos, como leitores, o tempo todo experimentando as ideias, emoções e fantasias da pequena, jovem e grande Geni. A cor da ternura é um romance para não esquecer jamais, tanto por sua riqueza de diálogos quanto por sua mensagem principal.
A ternura certamente tem a cor preta, como a autora, como a protagonista. Mas também é multicolor, pois reflete a alma arco-íris daqueles que enxergam os outros com os “olhos de dentro”. Você se lembra de como a mãe de Geni a enxergava com ternura, com doçura? A ternura de uma mãe negra... Esse sentimento domina o livro do começo ao fim. A Vó Rosária enxerga seus ancestrais com ternura; a própria Geni enxerga seu irmão bebê com ternura e, mais tarde, quando cresce e se torna professora,
consegue também enxergar sua aluna racista com generosa ternura.
Geni retribuiu com ternura o preconceito de sua aluna. E por que isso? Oras bolas, a protagonista não tinha sido ofendida? É que Geni aprendeu com suas duas famílias — sua família de sangue e também a bicharada, sua família animal, em especial a aranha — que, quando mudamos o jeito de enxergar as coisas, tudo ao redor também muda. Por isso Geni acreditou que sua aluna poderia mudar. Acreditou que, como professora, poderia acolher a criança de maneira que ela pudesse superar o “medo de professora preta”. E foi o que fez. E foi o que aconteceu. E assim será com você e com todos aqueles que procurarem pela luz colorida dentro de si. Ela é antirracista, é a favor da diversidade e acende uma chama dentro do peito. Porque, agora, você já sabe: todo mundo pode encontrar e cultivar ternura no peito. Basta procurar... Quem procura acha!
ALVES, Januária Cristina. O Saci-Pererê e outras figuras traquinas do folclore brasileiro . São Paulo: FTD, 2017. (Coleção Personagens do Folclore Brasileiro).
A Coleção Personagens do Folclore Brasileiro reúne as figuras mais fascinantes da tradição popular brasileira, fruto de extensa pesquisa da escritora Januária Cristina Alves. Em O Saci-Pererê e outras figuras traquinas do folclore brasileiro, esses seres incríveis têm um assunto sério
109
a resolver: como não deixar o medo dos humanos morrer? Se um saci já faz tantas traquinagens, o que dizer de um encontro de todos os tipos de saci que existem? O “Guia dos Observadores” apresenta informações sobre as características físicas e psicológicas, origens e referências dos vários sacis que rondam o nosso imaginário.
LOPES, Nei. Novo dicionário banto do Brasil . Rio de Janeiro: Pallas, 2003.
Neste vocabulário, o pesquisador Nei Lopes, compositor musical e importante autor de diversos dicionários de termos da cultura afro-brasileira, reuniu palavras comprovada ou supostamente bantas. São, portanto, palavras do grupo linguístico banto, que reúne cerca de quinhentas línguas faladas na África negra, as quais teriam se formado a partir de um idioma comum. Mais de 250 propostas etimológicas deste dicionário foram acolhidas pelo Dicionário Houaiss de língua portuguesa, por terem sido integradas ao idioma falado no Brasil.
IBGE. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Estudos e pesquisas — Informação demográfica e socioeconômica, Brasília, n. 41, 2019. Disponível em: https:// biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.
Este informativo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta uma análise focalizada nas
desigualdades sociais por cor ou raça a partir da construção de um quadro composto de temas como mercado de trabalho, distribuição de rendimento e condições de moradia, educação, violência e representação política.
MORETTI, Franco. O romance: história e teoria. Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, n. 85, p. 201-212, nov. 2009. Disponível em: www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a09.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.
Neste artigo, o teórico italiano Franco Moretti procura responder às seguintes perguntas: por que os romances são escritos em prosa? Por que, tão frequentemente, são histórias de aventura? Por que houve, ao longo do século XVIII, uma ascensão do romance na Europa?
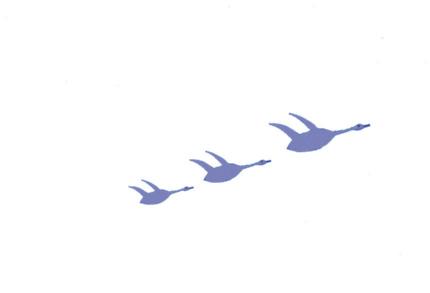

Geni é a penúltima filha de uma família de oito irmãos. De origem negra e pobre, percebe muito cedo o peso da cor e da condição social. Negritude se apaga? Com essa vontade, ela esfrega na perna tijolo triturado, mistura certa para retirar carvão do fundo das panelas. O sangue jorra quente, vermelho da cor da vida, da liberdade e da consciência da desigualdade. Crescer negra num lugar onde o branco substitui o preconceito pelo paternalismo. O tamanho certo da vontade de lutar pode ser medido pela extensão dos braços da mãe?