Ieda de Oliveira As cores da escravidão

Ilustrações de Rogério Borges


Ilustrações de Rogério Borges
Ilustrações de Rogério Borges
Copyright © Ieda de Oliveira, 2022
Todos os direitos reservados à
Editora Mediação Distribuidora e Livraria LTDA Rua Ramiro Barcelos, no 344, sala 2 Bairro Floresta – Porto Alegre – RS
CEP 90035-000
Tel.: (51) 3204-8100
Editor assistente Bruno Salerno Rodrigues Revisoras Lívia Perran e Marina Nogueira
Ieda de Oliveira é escritora, compositora e pesquisadora. Sua obra literária e musical é voltada para o público infantil e juvenil. É doutora em Estudos
Comparados de Literaturas em Língua Portuguesa, mestre em Literatura Brasileira e especialista em Literatura Infantil e Juvenil.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Oliveira, Ieda de As cores da escravidão / Ieda de Oliveira; ilustrações de Rogério Borges. – 1. ed. – Porto Alegre, RS: Mediação, 2022.
ISBN 978-65-5538-046-0 (Livro do Estudante Impresso)
1. Literatura infantojuvenil I. Borges, Rogério. II. Título.
22-122029
Índices para catálogo sistemático:
CDD-028.5
1. Literatura infantojuvenil 028.5
2. Literatura juvenil 028.5
Eliete Marques da Silva – Bibliotecária – CRB-8/9380
A meu filho Diego, pelo material que disponibilizou para pesquisa, pelos longos papos sem hora de acabar, pelo amor, pela partilha.
É preciso ter muitos talentos para escrever uma história como a que Ieda de Oliveira conta neste livro. Não é para qualquer um a capacidade de perceber, no meio do descaso e dos descuidos do mundo, um episódio que pede com tanta urgência para ser narrado – e que trata de um tema doloroso, muitas vezes varrido para baixo do tapete: escravidão no Brasil. Mas a escravidão no Brasil não foi abolida faz mais de um século? Não, as coisas não são bem como pensamos. Como gostaríamos de pensar.
Soma-se a isso a sensibilidade da narradora, a mão firme com que amarra suas páginas e a nós nelas, como se usasse de mágica, de modo que a gente já não sabe mais se está acompanhando a história ou se a história nos está acompanhando. E é o que faz As cores da escravidão permanecer conosco muito depois de finda a última página.
Seguindo a vida de um pequeno herói que sonha, inocente, com o Gato de Botas, e encontra em vez dele um tal Gato Barbosa – um gato que chega na cidade “pra ajudar todo mundo a ficar rico” e leva em-
bora sonhos, leva embora infâncias (literalmente) –, Ieda não escreveu um livro qualquer. Tenho certeza de que, mesmo entre sua vasta e premiada obra, As cores da escravidão vai sempre ocupar um lugar especial. Trata-se de uma pequena grande aventura, costurada em angústia, esperança e alegria. Olhar o mundo nos olhos é a verdadeira postura dos heróis. Aqui, o que se pede de nós é que, ombro a ombro com o herói do livro, sustentemos a vista firme diante da feia visão daquilo que nós, seres humanos, cometemos contra nosso semelhante, e com isso compartilhemos, do fundo da alma, a urgência de dizer: não mais! Daremos conta do recado?
AdriAnA LisboA Adriana Lisboa é autora de romances, contos e livros de poesia, além de obras para crianças e jovens. Recebeu, entre outros prêmios, o José Saramago (por Sinfonia em branco), o Moinho Santista (pelo conjunto da obra), o de Autor Revelação da FNLIJ (por Língua de trapos) e a menção honrosa do Casa de Las Américas (por Pequena música). Seus livros foram traduzidos em treze países.
“Eu, Sebastião Luiz Paulo, sou brasileiro, com 17 anos, sem documento, residente em Colinas, Tocantins, no poder da minha bisavó, que mora na rua 18 de Setembro s/n, em Colinas (TO). Sou filho de pai falecido, Sr. Valdir, e Dª Zenaide, que convive com Raimundo Soares e trabalha na fazenda Volkswagen, entre Redenção e Santana do Araguaia.
[...]
Ele estava oferecendo uma boa remuneração por alqueires de serviço em uma fazenda do Sul do Pará, no município de Xinguara, e eu e mais 22 peões, incluindo dois menores, entramos em uma carreta de transportar gado e fomos até a fazenda Lagoa das Antas, no município de Xinguara, do fazendeiro Luiz Pires. Quando chegamos lá, encontramos o Gato Fogoió, que é o contabilista do Gato João Moaramas, que nos levou à fazenda Flor da Mata do fazendeiro Luiz Pires, a 300 km da fazenda em que estávamos. Fomos transportados de avião.
[...]
Depois de ter feito um alqueire e meio de juquirão e 20 km de aceiros, eu vi uma cena perigosa de um companheiro menor com idade mais ou menos 10 anos, que andava mais eu: em uma sexta-feira ele tomou uma bota emprestada para ir ao trabalho, pois não queria comprar uma por preço de 20,00 reais, tinha medo de ficar devendo e não poder mais ir embora, depois disseram que ele tinha roubado a bota, então o Gato Fogoió levou ele para o mesmo barracão abandonado que ficamos quando chegamos na fazenda Flor da Mata, e bateram nele de facão, depois pegaram uma arma de calibre 38, apontaram para ele e mandaram ele correr sem olhar para trás, e ele correu, entrou na mata e eu não vi mais.
[...]
Por ser verdade, assino a presente declaração (impressão digital)
Tucumã, 15.8.97...” (*)
* COMISSÃO Pastoral da Terra (CPT). Trabalho escravo no Brasil contemporâneo. São Paulo: Loyola, 1999. p. 26-9.
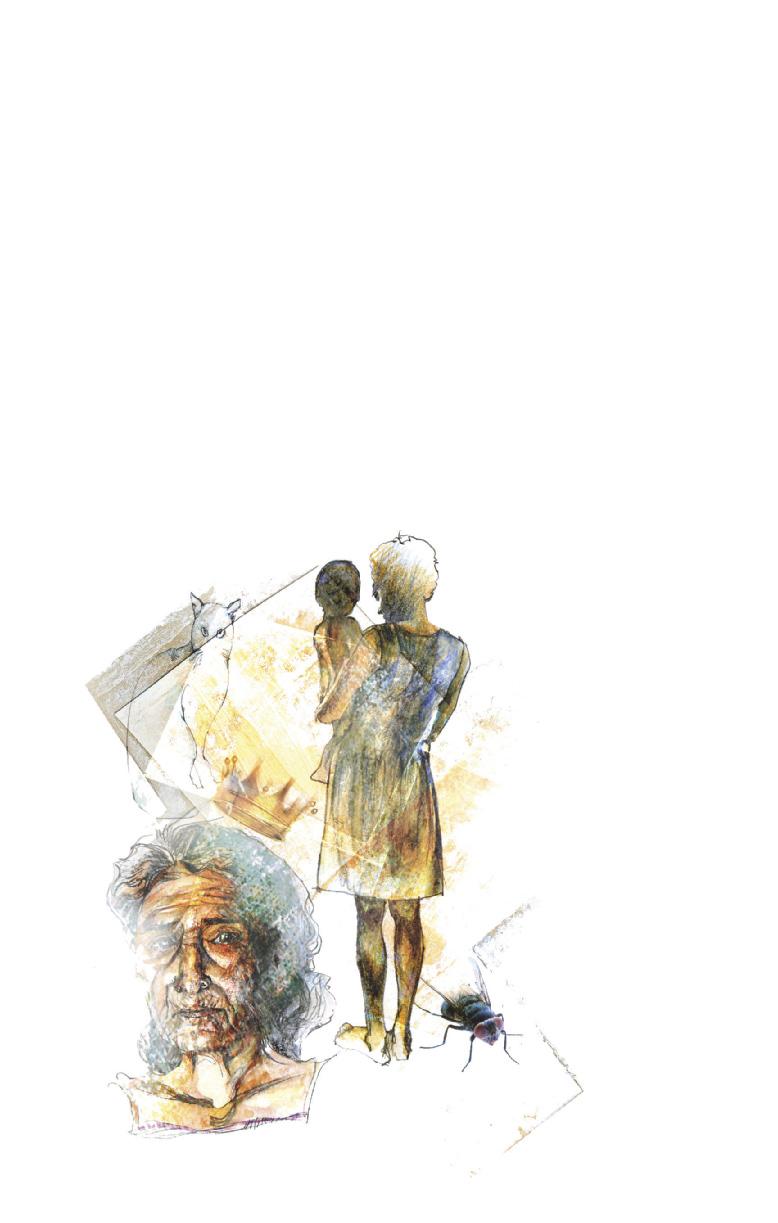
Mato, mato, mato, eco de verde e medo. Os galhos cortando o rosto seco. Apenas sangue. Seus pés descalços de menino correm desamparados rumo ao escuro de uma floresta desconhecida. Onde está a esperança que estava aqui?
O Gato comeu. Em algum tempo tinha ouvido histórias da boca murcha da vó Tonha. Era incrível, mas nem a fome conseguia silenciar seu jeito de olhar as coisas. Via verde na terra seca, comida em prato vazio, flores em galhos secos. O povo dizia que era caduca, mas todo mundo adorava ficar perto ouvindo
suas histórias de tudo. E foi por causa de uma dessas histórias que quis seguir naquele comboio pra fazenda onde seria muito feliz.
Sentada na pedra, a vó Tonha contava e recontava minha história preferida. Era uma vez um peão que tinha três filhos. Tudo que ele tinha na vida era um pedaço de roçado, um burro e um gato. Quando ele viu que a hora da morte tinha chegado, chamou os três filhos e deu para o mais velho o roçado, pro do meio o burro e pro mais novo deu o gato. O filho mais novo ficou muito aborrecido, porque aquele gato não prestava pra nada, mas o gato falou pra ele que, se ele comprasse um par de botas e um saco, ele ia provar que era mais útil que o roçado e o burro. Dito e feito e o esperto do gato conseguiu fazer seu dono virar marquês, ficar rico, casar com a filha do rei e ser feliz pra sempre.
Cresci escutando a história da vó Tonha, com a certeza de que eu, apesar de ser o mais velho dos irmãos, era o Marquês de Marabá e que só o gato, que eu não tinha, sabia disso. Meu pai no mundo desapareceu. Minha mãe com mais um na barriga
foi demais pra ele. E ela ficou só com a gente, nós, seus seis filhos e meio.
Escola ainda não tinha. Amigo sim. O João. Adorava ele. Às vezes ele me ensinava as coisas, às vezes eu ensinava a ele. Coisas que a gente ia descobrindo sozinho, mas nada de leitura, que ele também não tinha. Fui eu que o ensinei a fazer lamparina de vaga-lume e foi ele que me ensinou a pegar mosca no ar, fui eu que o ensinei a defender bola no gol, foi ele que me ensinou a rezar.
João era o único que sabia que eu era o Marquês de Marabá. Ele e o gato que eu não tinha. Combinei que, assim que minha herança chegasse, eu levava ele pra morar nas minhas terras. A princesa, minha mulher, também ia ter uma amiga princesa, que também casaria com o João, que também seria rico e que também seria feliz pra sempre.
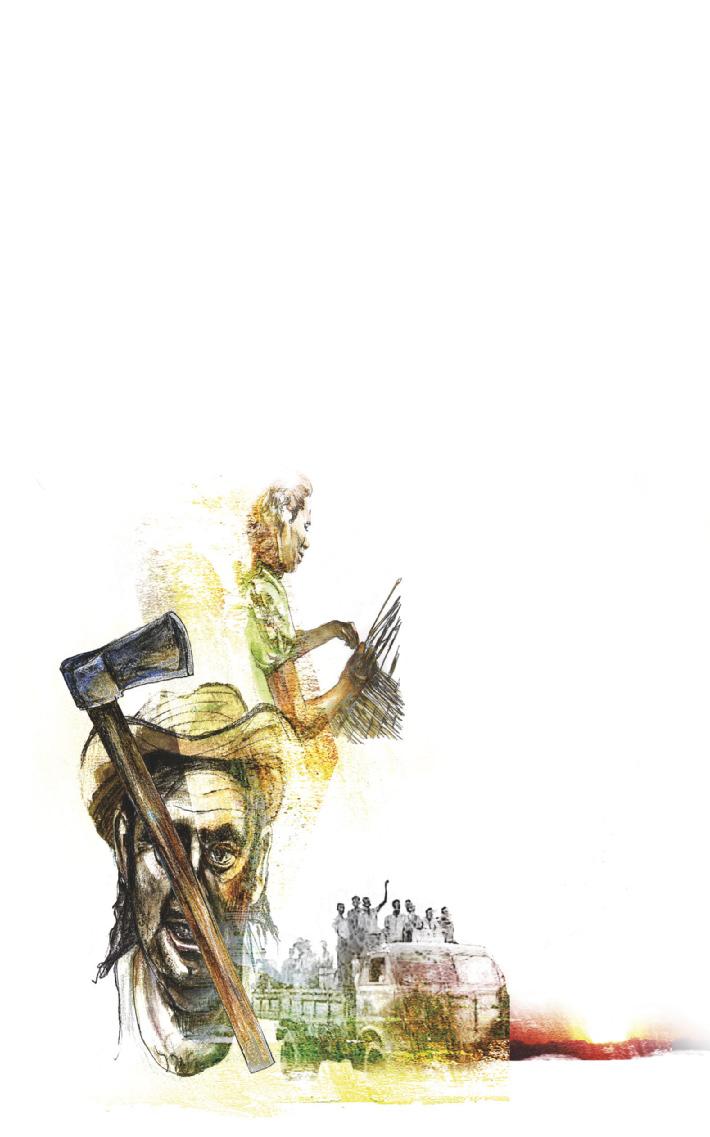
2Um dia a gente estava jogando bola no campinho, quando começou a ver um mundo de gente passar com pressa. Fomos atrás. Tinha um homem falando alto e dizendo coisas muito boas. Que ele sabia onde tinha serviço bom pra todo mundo e que dava pra ganhar muito dinheiro. Olhei bem pra ele. Era grande, quase gordo, chapéu na cabeça, bigode fino e uns cabelos caídos nos ombros. Nas pernas, grandes botas. Era o Gato Barbosa. Estava ali pra ajudar todo mundo a ficar rico.
Falei pro João que a gente tinha de ir com ele naquela carreta de qualquer jeito. Ele ficou com
medo e, mesmo quando lembrei a história do marquês, ele continuou com medo. Chamei ele de cagão. Então, falei que ia falar com a minha mãe e com a dele e ia pedir a elas que conversassem com o Gato Barbosa. Falei, e minha mãe ficou sabendo que tinha serviço bom pra nós na fazenda. Eu tinha certeza de que voltava rico.
O pai do João tinha ido trabalhar numa fazenda longe, lá pros lados do Pará, que ninguém sabia onde. Dizia o João que ele falava que, se tivesse terra pra plantar, não ia não, mas, como não era pessoa bem estudada, precisava de ir é pro machado mesmo. A mãe, que ficou com os filhos e seus trançados de palha pra vender, só fazia esperar por ele. O dinheiro, quase nada, não dava pro muito pouco. O João era o filho do meio de cinco irmãos. Acho que por isso ela não ligou de ele ir. Menos um na conta da fome. E também o Gato Barbosa deu de presente pra ela e pra minha mãe um dinheiro pra ajudar. Daí ela só fez foi abençoar o seu João Evangelista, conformado, e arrumar um pouco de farinha e de açúcar para a viagem sem lágrimas.
Eu não tinha nada pra levar a não ser meu sapato de ponta cortada com a faca por causa do meu pé que cresceu, uma calça e minha camisa. Comida nenhuma, não deu pra arrumar, só água. Na mãe e na vó Tonha, um beijo. Estava tão feliz que, quando a carreta chegou, fui logo sorrindo pro Gato Barbosa, que eu começava a ter.
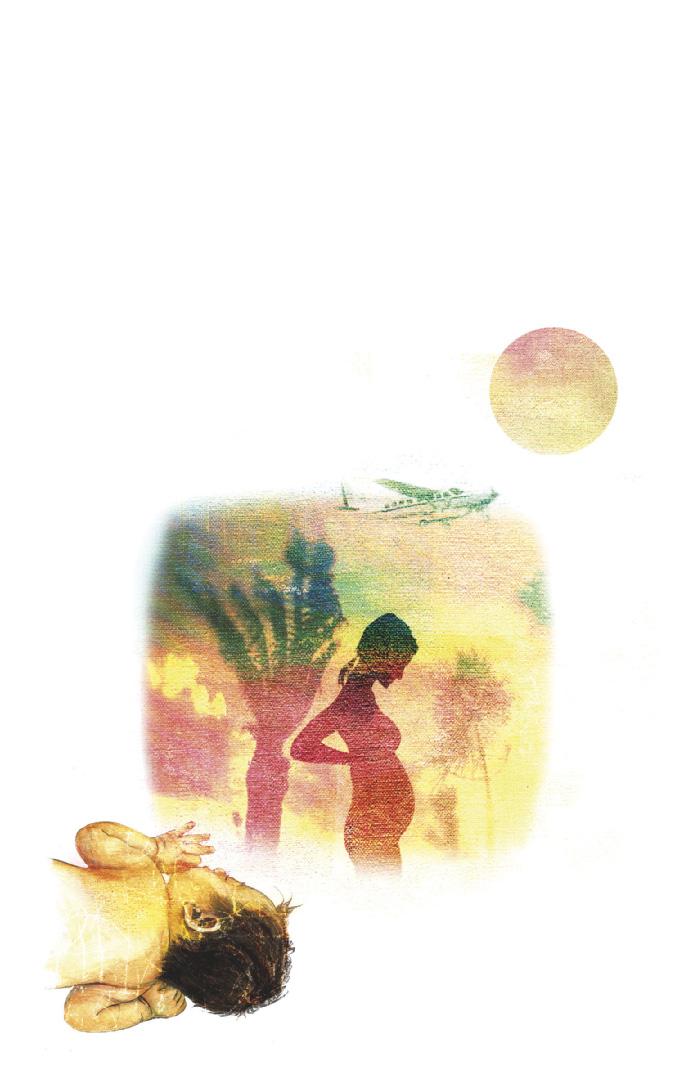
Era muita gente lá em cima da carreta. Apressada, ela ia cortando a estrada. O João, quieto, ia encolhido. Podia jurar que estava rezando, mas não perguntei. Depois fui ver é que ele estava ficando é enjoado e acabou foi vomitando em cima de mim. Acho que foi o cheiro de bosta de gado que tinha lá em cima e mais aquele sacudimento sem fim. Pensei que seria bom dar um pouco de água pra ele e conversar bastante. Como o barulho do motor era forte, eu tinha mesmo é que gritar. Aí gritei algumas histórias que eu tinha aprendido com a vó Tonha. Outras, eu inventei. Deu certo. O João ficou com a cara menos branca e os olhos verdes normais.
Achava engraçado isso nele. Parecia uma onça-pintada. O cabelo meio vermelho, um monte de pintas cor de barro pela cara e olhos que mudavam de cor. Com medo, cinza. Com fome, amarelos. Com histórias, verdes. E, com raiva, nunca vi.
Eu era bem maior e acho que mais velho, mas, de algum jeito, achava o João melhor que eu. E eu falo é de coisa simples mesmo. Quer ver como era? Se eu não tivesse com vontade de jogar bola, não jogava. Mas ele não. Era capaz de jogar sem vontade só para não dizer não. E isso era com todo mundo.
A viagem era de um demorado sem fim. Quando a primeira fome chegou, o João me deu um pouco de seu açúcar e farinha, que durou pouco pra nós. Depois de mais tempo demais, chegamos a uma fazenda muito grande, de um nome que não lembro direito. Aí aconteceu uma surpresa tão boa, que fiquei ainda mais feliz. Fomos recebidos por outro gato de nome Faísca, que nos levou pra mais perto do sonho, e de avião.
Senti um medo muito alegre. Sempre tinha sonhado em viajar de avião, mas sabia que era coisa
de muito rico e é claro que aquilo já era o sinal do que esperava por nós. Os olhos do João cinzamarelaram. Eu vi, mas fingi que não. Ele falou baixo pra mim: “Tonho, tô com medo, não quero andar nisso não”. Falei pra ele que tinha de se acostumar a ser rico, que rico anda de avião. E, além do mais, ele ia ver tudo lá do céu, que nem passarinho. Que devia de ser lindo de tudo. Falei que era que nem o tapete voador da história. Aí ele disse que tapete voador não caía e eu procurei acalmar o João de dentro do meu medo. Ele olhou pra mim suplicante: “Tonho, acho que não quero ser rico não”.
Levei um bom tempo falando ao João das maravilhas de voar. O tempo de me convencer. Não adiantou nada, e ele só de cinza me olhou, quando entramos no avião. Palavra nenhuma trocamos. O meu medo era tanto, que a garganta ficou seca e muda. Era assim, sempre que estava em agonia. Não olhei pela janela, nem me mexi. O avião saiu do chão.
Vi que o João rezava baixinho “Pai nosso, que estais no Céu...” e eu pensava bem quieto: “Nós também... nós também”. Era tudo que eu sabia.
Não conseguia pensar em outra coisa que não fosse na vó Tonha. Nela, em seu Santo Antônio de cabeceira e na visão. Foi numa noite de tempestade. Minha mãe, na agonia de parir. Minha vó, entre as pernas dela, com as mãos estendidas, esperando o neto que não vinha. Minha mãe gritava, suava, respirava e sangrava. Neto nenhum. “O menino tá virado, fica calma, minha filha. Isso não é nada. É um pau por um oiro.”
O menino, nada. Minha vó viu a filha perdendo as forças e a vida. Neto nenhum. Foi aí que veio o clarão e o silêncio.
Parou a chuva, parou o vento, parou tudo. Na beira da cama, Santo Antônio sorria para minha mãe, que não o via. Mas vó Tonha conta que viu e que até falou com ele e prometeu que aquele neto virado se chamaria Antônio. Foi assim que fiquei sendo.
Nunca me vali do santo meu xará. Nunca houve precisão. Mas avião é coisa de céu e aí é diferente. E a minha cabeça só fazia repetir “Antonho, Antonho, Antonho... santinho da minha vó, não deixa a gente cair”.
Fiquei assim num tempo de perder no esquecimento. Tempo de coragem de olhar pela janela e ver tudo pequeno e verde embaixo de nós. Falei pro João olhar também e ficamos então passarinhando juntos, sem medo, o resto da viagem.
Achei aí que foi rápido de tudo. Até passarinhava mais, mas o avião chegou no chão e nos mandaram descer, que o destino tinha chegado.

Do lado de fora, esperando por todo mundo, um gato de nome Tanguá. Junto com ele, outros homens. Ele tinha a cara fina e um olho tapado. Achei que parecia mais pirata do que gato. Falava grosso e deseducado. Diferente do Gato Barbosa. Ele não ria. Foi logo dizendo que a gente ia trabalhar na derrubada da mata e que o gasto da viagem já estava anotado no caderno. Não entendi. O Gato Barbosa não falou nada disso. Só podia ser invenção desse Tanguá pirata. Não gostei dele e João também não.
Ele disse que tudo de que a gente precisava tinha na venda do coronel Justino, dono da fazenda.
Eu estava com uma fome danada e fiquei feliz de saber que ia comer e era muito. Depois foi explicando que tudo que se comprasse ficava anotado pra pagar depois. As ferramentas de trabalho também. Tudo. E foi caminhando pela fazenda adentro pro lugar onde ficaríamos.
Parecia fila de igreja aquele carreirão de gente atrás dele e de uns homens armados que estavam com ele. Eu caminhava, olhava a mata pequena em volta e pensava que nunca podia imaginar uma fazenda com avião dentro. Muita riqueza mesmo. O João ia quieto de cabeça baixa a meu lado. Não sei o que pensava, não dava para ver seus olhos.
Caminhamos muito por dentro de uma mata baixa. Chão, mato, céu e um cheiro bom de terra molhada, de barro bom de apertar nas mãos, mas danado pra fazer escorregar. Ela entrava pelos meus dedos dos pés, me fazendo cair várias vezes. Lembrei da ocasião em que resolvi brincar de escorregar na lama e acabei com um caco de vidro atravessando todo o pé por causa do peso do meu corpo.
Ainda hoje sinto uma emoção confusa, quando lembro do meu sangue misturado com a lama e
meu pai correndo comigo no colo pra pedir ajuda. De um lado, a dor e, do outro, o conforto do abraço e da batida forte de seu coração, que eu ouvia. Meu pai. Gostava tanto dele, que entendi seu olhar sem despedida. Falava pouco, muito pouco. Era mais de olhar pra que a gente adivinhasse o que sentia. Não era de acarinhar filho de abraço, nem de descarinhar. Ficava ao lado. Acho que talvez por isso sinta sua presença até hoje.

Depois de um tempo, que não foi pequeno, chegamos ao acampamento. Era um descampado com um monte de barracas cobertas com um plástico preto, de qualquer jeito. Achei esquisito, mas não falei nada. O gato pirata foi falando, com aquele jeito gritado dele, que todo mundo fosse se acomodar, que o lugar era ali. Pra mim e pro João falou outra coisa. Mandou que a gente seguisse com ele. Falei baixinho pro João:
– Tá vendo? Não falei? Com a gente é diferente. Mesmo tendo esse jeito de pirata, esse Tanguá está a mando do gato que vou ter e deve estar sabendo que eu sou o Marquês de Marabá. Vai nos levar pra um lugar com cama boa e muita comida. A gente vai ficar rico, muito rico.
– Sei não, Tonho. Não tô gostando nada de nada.
Falei que parasse de implicar, e ele ficou quieto.
Andamos mais um tempo na companhia do Gato Tanguá, até que ele parou perto de um curral e disse pra nós: “Vocês dois ficam aqui”. Perguntei se era pra gente ficar esperando e ele falou:
– Esperando o quê? Vocês se ajeitem aí com os gados. É aqui que vocês vão dormir enquanto estiverem na fazenda. Peão de menor fica aqui no curral.
Não tive vontade de olhar pro João, mas tive a certeza de que o Gato Tanguá era o Capitão Gancho.
– Vocês agora me sigam, que vou mostrar onde fica a venda.
Obedecemos e fomos com a nossa fome atrás dele.
A tal venda ficava bem perto do acampamento dos homens. Tinha muita coisa: chinelos, botas, pilhas, cigarros, remédios, coisas de comer, panelas e algumas coisas que não sei o nome. Eu peguei umas linguiças e um pão pra mim e João pediu farinha e açúcar. Um outro gato, de nome Ladino, sem rir, foi perguntando o que a gente queria mais e anotou na caderneta.
Tinha muita gente em volta de nós. Era tudo homem-feito. Um deles perguntou se as coisas que eu e
o João pedimos tinha precisão de anotar. O Gato Ladino olhou pra ele com muita raiva e perguntou por que ele queria saber. Aí ele disse que era porque a gente era de menor. O gato falou que, se ele preferisse, podia botar na conta dele e, se não, que se metesse com sua vida.
Eu olhei pro homem já com olho de gostar. Ele falou pra mim e pro João, entre os dentes e baixo:
– Esse sujeito não presta. Nada aqui presta. Pior é que muito companheiro acha normal ser tratado assim.
E perguntou se a gente veio sozinho. Falei que sim, contando nossa história até ali. Ele ouviu de cabeça baixa, disse que se chamava Zé Antunes e que era trecheiro.
Diferente da gente, ele já tinha deixado há muito tempo sua terra e vivia sem lugar certo pra morar. “Vida de peão de trecho é assim mesmo”, disse. Veio pra essa fazenda em busca de trabalho e pra juntar dinheiro. Já tava ali há um tempo tão grande, que nem sabia mais. Dinheiro ainda nenhum, só conta. Disse que, se a gente precisasse dele, era só falar e que tomasse cuidado na mata. Agradecemos e falei que, se precisasse da gente também, era só pedir. Ele sorriu com os olhos do meu pai e foi caminhando pro lado do acampamento.

João e eu fomos buscar um lugar pra sentar e comer. Dividimos a comida. Dei um pouco da minha pra ele e ele, da dele pra mim. Ficamos ali um tempo, até que chegou o Capitão Gancho e mandou a gente ir lá na venda buscar as ferramentas, porque no outro dia a gente ia cedo pra mata fazer derrubada. Obedecemos e seguimos na companhia dele. Assim que chegamos, foi logo pegando a caderneta e anotando as coisas que disse que a gente precisava. Não adiantava nem eu querer ver o que ele escrevia, não sabia ler mesmo.
Falei que a gente tava cansado e ele disse que o dia na fazenda começava cedo e que ali
não era lugar pra moleza. Mandou que a gente se ajeitasse no curral, que de manhã cedo ia pra mata. Falou e foi andando em direção a uns homens que estavam perto do acampamento.
Olhei pro João e vi que estava triste. Seus olhos, de uma cor que nunca tinha visto. Nem cinza, nem amarelo, nem verde. Amarronzados. Ele não falou nada e seguiu comigo pra perto dos animais. Nas nossas mãos, os machados.
O curral não ficava longe dali. Fácil de achar. Era só seguir a trilha da bosta barrenta dos animais. Caminhamos calados. Vez por outra, o João trocava o machado de mão. Dava pra ver que estava cansado, e muito, mas não reclamava.
Quando chegamos ao curral, fiquei parado, pensando onde a gente ia dormir. O cheiro de mijo e bosta sufocava. Comecei a sentir um aperto por dentro e uma coisa esquisita. Acho que medo, medo de não ser o Marquês de Marabá. Não falei nada pro João e comecei a procurar no meio da imundície um canto onde a gente pudesse dormir.
Encontrei uma vassoura de bruxa, sacos de pano velho e capim seco. Vi que podia, num canto
que dava pra perto de uma torneira, varrer e lavar o cimento grosso do chão. Não pedi ao João pra ajudar. Deixei ele quieto, sentado, com o machado do lado. Nunca tinha visto tanta sujeira. Minha casa era de chão batido, mas sempre limpa. A mãe vivia repetindo: “A gente pode não ter nada, mas tem de ter vergonha”. Tinha aquilo na minha cabeça. Vergonha e limpeza. Peguei um balde velho, enchi de água e comecei a lavar tudo. Esfregava o chão, nervoso. O João levantou de onde estava e caminhou pr'um canto, onde uma vaca ruminava esquecida.
– Tonho, como é que será que essa vaca chama?
– Sei lá, como é que eu vou saber? Deve ser Malhada ou outro nome aí qualquer. Vaca tem tudo nome parecido.
– Será que ela dá leite?
– Deve de dar. Olha o tamanhão das tetas.
– A gente pode mamar nela.
– Tá maluco, João? Já pensou se o Capitão Gancho pega a gente mamando na vaca do coronel?
– A gente mama escondido.
– Eu não quero. Se você quiser, e a vaca deixar, mama, ué!
João chegou bem perto e começou a olhar pra ela, sem dizer nada. Aos poucos levantou a mão e passou no pelo da vaca. Ela virou um pouco a cabeça na direção dele.
– Tonho, olha! Ela gostou de mim.
– E você vai mamar nela agora?
– Não, Tonho. Ela precisa me conhecer primeiro.
Nem sei o nome dela ainda. Sabe, acho que ela tem cara de Sofia.
Não tinha a menor ideia de onde o João tirou esse nome, Sofia. Falei que nunca tinha visto vaca com esse nome, mas ele cismou que era Sofia e começou a conversar com a vaca:
– Oi, Sofia! Meu nome é João e você é muito bonita.
Enquanto João conversava com a Sofia, eu forrava o chão de capim seco e cobria o capim com os sacos de pano. Depois de algum tempo, nossas camas ficaram prontas.
Escutamos o barulho de alguém que chegava. Era um homem de chapéu preto na cabeça, uma vara numa mão, um pacote na outra e cara de poucos amigos.
– O Tanguá mandou lanterna, lamparina e fósforo pra vocês de noite afugentarem os bichos. Ele já anotou na caderneta. Agora que vocês vão ficar aqui, eu vou levar a Mimosa.
O João, pra minha surpresa, falou que podia deixar que ela não atrapalhava. Ele olhou sem simpatia pro João, não disse nada e foi batendo com a vara na Sofia, conduzindo a vaca pra fora do curral.
Começava a escurecer e eu tinha esquecido isso. Detestava escuridão. Era na escuridão que tinha lobisomem, vampiro, gemidos dos mortos e fantasmas.
Não lembrei nada disso pro João. Guardei o meu medo pra impedir o dele. Acho que não adiantou muito. À medida que a noite avançava, a escuridão se tornava inteira. Lembrei calado a história do espírito da Ana Jansen. Uma mulher tão rica e tão má, contava vó Tonha. Morava lá pros lados do Maranhão. Escravizava muitas pessoas, que maltratava sem dó nem piedade. Hoje, é uma alma penada, que vaga desesperada numa carruagem, pelas ruas do Maranhão, implorando aos gritos, por onde passa, que rezem por ela.
Falei pro João que estava com sono e que era bom a gente deitar e fechar os olhos pra dormir. Ele não falou nada e se acomodou quieto com seu corpo pequeno e encolhido sobre a palha coberta. Eu fiz o mesmo, mas não segui meu conselho e fiquei acordado até que senti o primeiro raio de sol.

Manhã chegada, olhos ardendo, boca de sal, João dormindo. Levantei com o corpo doendo, marcado de mosquitos. Em pouco tempo o silêncio foi rompido pelo forte grito do Gato Tanguá, que foi chegando com um jeito deseducado, chamando a gente de vagabundo. Tive muito medo de não ser o Marquês de Marabá e este ser o gato que eu teria pra sempre. Não tive coragem de dizer pro João. Foi por mim que ele veio. Era por mim que estava sendo acordado com um chute nas costas. Por mim e pela minha história.
O Gato Tanguá disse que a gente se apressasse, pegasse as ferramentas e seguisse pra derrubada da mata.
Peguei o que sobrou do pão e dividi com o João. Comemos também açúcar e farinha, e depois saímos rápido com nossos machados na mão. O João, calado, com olhos de neblina. Olhos de uma manhã que desconhecia.
O caminho, a gente não sabia direito, mas demos sorte de avistar o Zé Antunes, que seguia na companhia de outro peão. Gritamos e ele nos esperou.
Sorriu, preocupado com nossos pés sem botas, e apresentou a gente pro companheiro que estava com ele. Era um negro de nome esquisito: Nlandu. Mas era só o nome que era assim. Ele não. Tinha um jeito bom de quem já viu muita coisa. De algum modo, senti menos medo junto deles.
Fomos aos poucos adentrando por uma mata alta sob a orientação do Zé Antunes.
– Vocês dois não arredem pé de perto de nós. Pisem onde a gente pisar. Aqui é danado pra ter cobra. Cascavel é traiçoeira, mesmo quando dá aviso.
Atrás de nós vinha um homem armado, que era pra vigiar a gente trabalhar. Chegamos a um lugar onde tinha muito peão e muita mata. Nunca que eu ia querer cortar aquelas árvores, não fosse não ter escolha. Era tão bonito... Falei isso pro João. Ele me olhou com olhos d’água e disse que queria ir embora. Eu só abaixei a cabeça. Resposta nenhuma.
Fui batendo com o machado, tentando imitar o jeito do Zé Antunes. O João fez igual. Ficamos um tempão ali, sem conversar, abatendo a árvore. Não sabia explicar a coisa esquisita que sentia por dentro. Parecia dor, mas não era. Só muito mais tarde foi que aprendi que aquilo se chamava angústia. Ficamos ali um tempo de perder a conta, até que chegou a hora de comer. A gente não tinha levado nada, não sabia da precisão. Foi aí que ficamos sabendo que cada um tinha de fazer sua comida.
O Nlandu e o Zé Antunes dividiram o que tinham levado comigo e com o João. Todos comemos pouco. Falei que eu não sabia nada de cozinhar e João também não, mas eles disseram que dariam um jeito de ensinar pra gente e ali mesmo começaram a explicação:
– O melhor é fazer feijão com farinha, é mais simples. Cozinha o feijão na água com sal, depois que tiver cozido, joga farinha dentro. Não presta, mas mata a fome – disse o Nlandu.
– Também, aqui nada presta – completou Zé Antunes. – Vão precisar de uma panela e mais outras coisas. A conta de vocês vai aumentar para o sem-fim. A gente é escravo, pior do que aconteceu com minha gente.
O Nlandu parou de falar, porque chegou perto de nós um sujeito armado, dando ordens de voltar pro trabalho. Eu queria muito saber mais dessa história que o Nlandu quase contou e pedi se contava pra nós. Ele disse sim e combinamos que depois da lida a gente voltava a conversar. Aquela palavra “escravo” tinha ficado na minha cabeça como um machado batendo sem cessar, abrindo o corte da derrubada. Escravo, escravo, escravo, escravo... Marquês de Marabá...
Tentei não ficar pensando. Eu precisava ser o Marquês de Marabá. Era tudo que eu tinha.

Passamos o resto da tarde na derrubada. O João teve sede e pediu água pro sujeito armado, que disse que não era pai dele. Foi o Zé Antunes que deu. Perguntei ao João se ele estava muito cansado. Ele disse “tô, ué!”, de cabeça baixa. Falei que já estava quase na hora de a gente ir descansar. Ele apenas me perguntou:
– Onde será que tá a Sofia? Será que tá lá no curral?
Respondi que talvez e ele não falou nada.
Ficamos ainda mais um tempo, até que chegou a hora de parar. Fomos com o Nlandu e o Zé Antunes até certa altura e depois seguimos pra
comprar o que a gente precisava. Falei pro João que eu ia fazer uma comida boa pra nós, mas ele não disse nada.
Depois de pegar o que a gente precisava, seguimos pro curral. Estava menos sujo que no dia da chegada. Não vimos a Sofia. Nosso canto de dormir continuava do mesmo jeito. Colocamos as coisas no chão e fui fazer um fogão do jeito que o Zé Antunes ensinou. Foi fácil. O problema é que a água que a gente tinha no curral não era boa de beber, mas aí pensei que fervendo matava a sujeira. Tinha visto minha mãe um dia falar isso. E aí juntei a água com o feijão e o sal, coloquei a panela no fogo e ficamos esperando que cozinhasse pra colocar a farinha.
Ficamos sentados no chão, esperando, até que ouvimos um mugido que parecia perto. João pulou de pé, dizendo que era a Sofia.
– Vamos lá, Tonho, a Sofia deve de tá perto.
Levantei sem muito pensar e segui o João, que parecia saber perfeitamente aonde ia.
– Alá! É ela!!
– Será mesmo, João?
– Claro! Olha a orelha. Ela tem uma orelha menor que a outra.
Fiquei surpreso com a informação dele. Eu não tinha reparado nisso, mas ele tinha tanta certeza, que só podia estar certo. E, com um sorriso que voltava, foi até ela e começou a alisar seu pelo. De alguma maneira que não sei direito, ela parecia reconhecer o João, que começou a tagarelar:
– Você estava onde, Sofia? Senti sua falta.
Aí ele chegou perto da orelha menor da Sofia e falou alguma coisa que não ouvi. Só sei que, pouco depois, ele se deitou debaixo dela e começou a mamar, todo feliz, nas suas tetas.
Não falei nada, mas fiquei preocupado. Se o Gato Tanguá ou algum homem do coronel visse, nem sei o que fariam, mas boa coisa não ia ser. Fiquei olhando pra ver se vinha alguém, enquanto passava o tempo e a vontade do João. Depois, falei que a gente tinha de sair logo dali. João, então, com a cara vermelha, levantou e seguimos de volta pra ver o feijão, que eu desconfiava que estava cheirando.
Estava certo. Nossa comida ficou toda queimada. Da panela saía fumaça pra todo lado. Falei que
o jeito era comer farinha e açúcar. Ele não reclamou e era o que íamos fazer, quando apareceu o Zé Antunes com o Gato Tanguá, que foi logo falando do jeito gritado de sempre:
– Vocês dois vão pegando as porcarias de vocês, que este aqui – apontando para o Zé Antunes –disse que arrumou um lugar pros dois lá no acampamento. Já estou avisando que não quero saber de encrenca.
Senti uma alegria tão grande, que só disse um “sim, senhor”, começando rápido a arrumar as coisas. O João e o Zé Antunes vieram em meu auxílio. O Gato Tanguá ficou parado, olhando, e depois nos seguiu até o acampamento. Assim que chegamos, achei aquele teto de plástico preto, aquelas redes penduradas e aquele monte de gente um paraíso sem estrelas. Podia não ser para um marquês, mas pra mim era o céu.

O Nlandu estava fazendo comida e nos recebeu com um sorriso:
– Se ajeitem aí, que fiz comida que dá pra vocês.
Agradeci do fundo da barriga. O Zé Antunes nos ajudou a pendurar a rede que tinha apanhado na venda pra nós e em pouco tempo estava tudo pronto. Eu e João agradecemos muito a ele e ao Nlandu.
Os homens do acampamento estavam lá na conversa deles e não falaram com a gente. O Nlandu me perguntou pelo feijão e riu quando mostrei a panela queimada. “Não se preocupe, que pelo jeito vocês vão ter o resto da vida aqui pra aprender.”
As palavras dele tinham uma força esquisita.
– Não quero passar o resto da vida aqui, só vim pra enricar – respondi de cabeça baixa.
Ele olhou pra mim rindo, desencantado:
– Enricar? Aqui?
Não respondi, mas entendi, no sorriso dele, o real, o sonho e as descombinações. Eu não era o Marquês de Marabá, não ficaria rico e gato nenhum teria. Era tudo uma vez...
Só consegui ficar quieto, nada em mim se mexia. Um amargo na boca e a escuridão. Silêncio, zunido de ouvido. Abri os olhos e vi o Zé Antunes, o João e um monte de peão à minha volta, me abanando. Não sei como fui parar deitado no chão, mas minha cabeça doía. O Nlandu veio com um prato de comida pra me dar. Me puseram sentado.
– Isso é fraqueza da fome, come que passa – falou pra mim.
Comi tudo em silêncio. Minha boca amargando sem parar. O Zé Antunes me ajudou a ir até a rede. Acho que pensou que eu fosse cair de novo. Deitei, fiquei de olhos fechados e fui parando aos poucos de ouvir.
Acordei no outro dia com o João em pé, do meu lado, com uma caneca de café na mão.
– Cê tá passando bem, Tonho? Cê aguenta levantar?
Sorri que sim sentado na rede. Bebi o café e ganhei um pedaço de rapadura do Nlandu.
– Tá com a cara melhor – disse ele.
Sorri agradecido e espreguiçado. Eu tinha dormido bem. O corpo não doía. O Zé Antunes falou que tava na hora de a gente ir. Tive preguiça. Queria ficar na rede, mas peguei meu machado e segui com o grupo. Junto da gente, os homens armados do coronel.
O caminho, o mesmo. O trabalho, o mesmo. O cansaço, o mesmo. A tristeza, a mesma. Vó Tonha, minha vó Tonha... se me visse ali com certeza ia ter uma história pra contar. Mas não estava. Minha história, agora, eu teria que descobrir sozinho.

0Eu não sabia como inaugurar uma história. Não sabia existir sem uma história que me precedesse, ainda que eu não coubesse nela. Tudo de que eu entendia era de silêncio. O Nlandu foi aos poucos me ajudando a olhar os sinais cuidadosamente como quem escuta um medo. Aprender a olhar a história que não é da gente como se da gente fosse, e sentir, sem passe de mágica, dores insuspeitadas. Augúrios.
Não sabia que Nlandu era um rei, mas ele me disse ser. O que bastou para que fosse. Mesmo. Um rei cuja coroa não era de ouro, mas ungida por mãos especiais, num tecido intrincado de cumpli-
cidade. Soba. S... O... B... A... Foi uma das primeiras palavras que aprendi a soletrar. O sentido ainda vazio. Aos poucos ia tentando compreender toda a realeza.
Nunca tinha sentido o prazer de tocar num objeto que contasse histórias com páginas. Do cantão de meu mundo, histórias só as que a cabeça foi capaz de guardar, se é que existiram, e que, se o dono da cabeça não estiver junto, viram páginas de lembranças revisitáveis e órfãs. No livro podia sentir a ilusão permanente do pai e tecer palavras em sonhos.
Era após o trabalho que o Nlandu me ensinava a ler. O caixote com tampa era mesa e, ao mesmo tempo, o tesouro que seria aos poucos dividido comigo. Lá dentro muitos livros, encardidos, suados e misteriosos como a construção do meu olhar. Tudo que ia aprendendo dividia com o João. Era a forma que encontrava de me desculpar.
Parei de dormir inteiro. Estado permanente de vigília, de aguardar nascimento ou morte. De-
finitivamente não sabia o que é ser Tonho. Santo Antônio... estar em dois lugares ao mesmo tempo, dentro-fora, longe-perto, silêncio... silêncio.
O despertar já não incomoda mais. Que nem pé descalço, sempre pela terra e pedra. Cria resistência. Na memória, a palavra da vó Tonha: a gente se acostuma com tudo, mas sem história é arriscado de morrer.
Ouvi umas no acampamento que não compreendia direito e não sabia se seriam do tipo que a vó Tonha contava ou do tipo que o Nlandu contava. Falaram que ali a gente tinha preço. A gente e as partes da gente. Que um braço valia vinte reais, a mão sozinha cinco, e corpo doente, de não prestar pra nada, valia a liberdade. Era jogado pelos gatos na estrada.
O João também ouviu e aquietou-se. Há muito tinha deixado de olhar seus olhos, que eram o que restava de seu sorriso sem rosto. Parei de saber o que sentia me forçando a acreditar na superfície em que deslizava. Queria muito que ele aprendesse a ler pra saber das coisas pelas páginas encardidas dos livros de Nlandu. Não de mim, nunca mais de mim.
Foi por essa ocasião que ele começou a acordar molhado de urina e lágrimas e a encolher mais e mais até caber inteiro nos meus braços. Eu responsável por aquela escuridão que saltava de seus olhos feito bicho de morte. Nlandu buscava ervas e magias, e Zé Antunes rendia nosso trabalho, enfrentando o Gato Tanguá nos seus desmandos, armado apenas de aflição. A febre não passava. A agonia durou três dias.
Enterrei o João cavando a terra com as mãos até sangrar. Não quis ajuda de ninguém. Eu inventei essa história e essa dor era minha por direito de posse. Só minha.
Da história de Nlandu também não quis mais saber. Só a história da história, essa que agarra a gente de jeito, e sequer sabemos como nos chegou sorrateira e cheia de perguntas. “Foi você que roubou as botas, não foi?” O interrogatório sem direito de defesa. “Não, moço, peguei emprestado.” “Mentiroso, ladrão, vai pagar com o couro do teu corpo.”
Fui arrastado para uma barraca distante e levei pancadas de facão nas costas.
“Corre, infeliz!”
Tiros, fome, mato e sangue.
Não sei quanto tempo depois fui achado na mata por uma diligência e levado para algum lugar onde me deram água, comida, abrigo e este arremedo de esperança em que me tornei.

Minha casa definitiva passou a ser a de seu Luís e dona Zefinha. Casal idoso, dono de uma pequena mercearia, que, sem filhos, me receberam quando pra lá fui levado pelo delegado Rubério. Passei a ter uma cama e um quartinho, banho todo dia, comida e muito carinho. Não conseguia falar. Me comunicava com a cabeça, sim e não, e o talvez ficava no olhar.
Nunca insistiram em ouvir minha voz. Nos primeiros dias fiquei quase todo o tempo deitado entre o sono e a vigília, enquanto curavam as feridas de meu corpo. Aos poucos comecei a dormir um pouco mais e a ter menos medo. Dona Zefinha me
trazia caldos de ficar mais forte e falava comigo sem precisão de resposta.
Contava que a galinha estava cheia de pintinhos, que o cachorro, Birosca, ficava rondando querendo ser meu amigo, que tinha uma escola muito boa ali perto e que as crianças gostavam muito de ir lá estudar, que eu ia ter um monte de amigos que... que... e eu escutava aquela voz boa e de alguma forma me aquecia por dentro.
O seu Luís tinha um jeito bom igual ao dela e me ajudava com o seu sorriso e o seu: “Oi, meu rapaz! Como está passando, hoje?” Pudesse ter voz, diria: Bem, obrigado por tudo. Mas só o olhava com meu olhar de talvez. Gritos, tiros, João, terra, frio... ainda não sabia que rumos tinham tomado em mim. Não conseguia ver.
Dona Zefinha um dia resolveu tocar na minha ferida de dentro, que as de fora ela já tinha sarado todas. E com jeito de mãe, foi passando as mãos pelos meus cabelos e começou a contar de seus sonhos de menina. De que queria ser bailarina e usar sapatilhas cor-de-rosa igual ela tinha visto na revista. Dançar na ponta dos pés, rodar, rodar, e todo mundo aplau-
dir. Nem sabia onde se compravam aqueles sapatinhos de cetim de ponta quadrada, mas não desistia de sonhar. Fechava os olhos e se imaginava tudo.
– Sabe, meu menino (ela não sabia que eu era o Tonho), a cabeça da gente voa pra onde a gente quer e deixa a gente ser tudo, tudo nesse mundo. É um direito que a gente nasce e que não pode deixar morrer. Eu danço até hoje. E não pense que só tenho sapatilhas rosa, não. Tenho de tudo que é cor. Basta eu pensar e ela muda de cor. Danço em qualquer lugar. Ontem mesmo dancei na lua, porque o céu estava lindo demais.
Pensei no Marquês de Marabá e no gato. Dona Zefinha não sabia do sonho, o risco. Fiz que não com a cabeça e acho que com tal certeza que ela disse:
– Calma, meu menino. Calma. Procure se acalmar. Vou fazer um chá de erva-cidreira bem docinho pra você. Outra hora a gente conversa de sonho.
Com carinho, dona Zefinha me sorriu e saiu do quarto.
Minha cabeça fervia. Essa coisa de sonho não podia ser, isso eu sabia.

2No outro dia, amanheci querendo levantar da cama e olhar em volta. Cheguei à janela e a luz me cegava. Custei a acostumar. A rua era de terra e galinhas a atravessavam com pintinhos correndo atrás. Faziam zigue-zague como se dançassem. Havia um terreno baldio em frente, onde um cavalo solto comia sem pressa o capim que encontrava. Embaixo da janela uns homens conversavam. Havia um movimento de entra e sai.
Descobri que meu quarto ficava em cima da mercearia. Gostei muito do que vi. Tive vontade de sair e ver tudo mais de perto. Abri a porta com cuidado e vi a escada por onde fui descendo silen-
cioso. No caminho encontrei com o sorriso aberto de dona Zefinha: “Que maravilha, meu menino de pé! Luís, Luís, vem rápido!”.
Fiquei sem saber como sorrir pra eles que me abraçavam. Aceitei o abraço envolvendo-os com meu corpo. Palavra nenhuma. Desci com os dois, que foram me apresentando pra todos que estavam na mercearia. Eu era o “nosso menino”. O Birosca foi o primeiro a oferecer sua amizade. Abanava o rabo, pulava nas minhas pernas e fingia não ver meus olhos de talvez. Os adultos sorriam e diziam coisas boas pra mim. Se eu pudesse, falaria coisas boas pra eles também, mas não conseguia.
Começaram a chegar as primeiras crianças. Umas do meu tamanho e outras menores. Depois de um curto tempo me olhando, me chamaram pra brincar. Fiquei paralisado e, sem saber o que pensar, fiz não com a cabeça e subi correndo as escadas. Precisava fugir. Birosca saiu correndo atrás de mim. Precisava brincar. Ficou me rodeando e latindo como se esperasse qual seria o próximo passo da brincadeira. Sentei na cama e joguei meu chinelo em direção à porta. Ele rapidamente foi lá
e o trouxe pra mim com o rabo abanando. Foi pra ele o meu primeiro sorriso. Tornei a jogar o chinelo e ele tornou a ir buscar e me entregar.
Resolvi descer pra rua na companhia dele. Quando apareci, as pessoas trataram como coisa de criança.
– Ele é envergonhado – disse seu Luís –, com o tempo acostuma. É assim mesmo.
Dona Zefinha disse que era para eu dar umas voltas para conhecer o lugar. Que Birosca conhecia tudo e que não tinha perigo de eu me perder. Aqui é muito pequeno e todo mundo se conhece. Assim fiz. Peguei um pedaço de bambu que encontrei no chão e comecei a percorrer aquela que seria a minha cidade e a conhecer aqueles que seriam meus amigos.
No caminho escuto uma voz de menina chamando pelo Birosca. Ele se voltou, abanou o rabo e ficou parado como que esperando. Ela veio e me disse: “Oi, você é o menino da dona Zefinha?” Fiz que sim com a cabeça. “Sou a Regina, mas todo mundo me chama de Rê. Você gosta de cachoeira?” Fiz que sim com a cabeça e ela foi nos levan-
do por um atalho cheio de verde. “Toma cuidado que aqui às vezes aparece cobra, mas é pouco. Olha onde pisa.” Comecei a ouvir um barulho forte de águas. “Adoro essa cachoeira. Venho aqui desde que era pequenininha. Olha, não é linda?!” Fiz que sim com a cabeça. Eu vou entrar, ela disse, com seu vestido meio comprido, igual a seus cabelos louros. “Você vem?” Fiz que não com a cabeça e ela, nem aí, pulou na água, espalhando alegria pra todo lado. Fiquei sentado em uma pedra, observando. Birosca do meu lado. Não conseguia pensar em nada que não fosse nas risadas de Rê.
– Olha, menino da dona Zefinha, vamos embora?
Tive vontade de perguntar se ela ia ficar toda molhada assim, mas ela torceu a saia do vestido, passou a mão nos cabelos e eu entendi que o sol faria o resto. Fomos andar mais e isso durou o tempo do conhecimento. A cidade já começava a me pertencer.

De volta a casa, fui recebido pelo sorriso de dona Zefinha indagando de minha fome. “Está na hora de almoçar, meu menino. Fiz uma macarronada com queijo ralado, você gosta?” Fiz que sim com a cabeça, mas não sabia direito como seria aquilo. Foi a primeira vez que sentei à mesa diante de um prato. Minha mãe, meus irmãos, minha vó Tonha, rostos distantes na névoa.
Comi calado, sem jeito, mas adorando aquele gosto bom. Repeti e ainda tomei um copo de refresco de laranja. Pra minha surpresa, ela ainda me deu um pedaço de pudim. Sorri agradecido.
“Que coisa boa ver meu menino assim, ganhando cor. Você quer começar a ir pra escola? Falei com a dona Lourdes, a diretora, e ela disse que não tem problema. As aulas já começaram, mas que dariam aula de reforço pra você acompanhar a turma. Se quiser pode começar amanhã, você quer?” Fiz que sim com a cabeça e ela me abraçou. “Então fica combinado. Vou lá ver o que preciso comprar de material. Quer vir comigo?” Saiu um sim, em forma de “rum rum”, da minha garganta. E ambos rimos.
Comecei a sentir dentro de mim alguma coisa boa que voltava quando ela me deu a mão e seguimos juntos para a escola. No caminho várias casas, muitas no tijolo sem pintura, alguns cachorros deitados na terra, alguns homens que passavam de bicicleta, um carro de boi que gemia e umas crianças correndo descalças atrás de uma bola. A todos os que encontrava, dona Zefinha, sorridente, cumprimentava e dizia: “Estou levando meu menino pra conhecer a escola. Ele começa amanhã”. “Que bom” era sempre a resposta.
O muro da escola era todo desenhado. De fora dava para ouvir o falatório e a risadaria das crianças. Era hora do recreio. Entramos, atravessamos o pátio e seguimos por um corredor cheio de quadros com desenhos coloridos que dava na sala da dona Lourdes. Ela era uma senhora da cor do Nlandu e de olhar igual. Gostei dela de pronto. Falou que daria tudo certo, indicou o material que eu precisava ter e depois foi até uma outra sala e buscou uma roupa pra mim.
Era uma calça azul, uma blusa branca com um desenho de uma letra e um passarinho, meias e um par de sapatos. “A roupa é do tamanho dele, mas vamos ver os sapatos, se o número é esse.” Não conseguia me mexer de tanta alegria. Sentei e dona Lourdes e dona Zefinha pacientemente pegaram meus pés e enfiaram no sapato. “Está apertado, meu menino?” Fiz que não com a cabeça. Acho que foi por causa do jeito que eu olhava para meus pés, que dona Zefinha perguntou se eu não queria ir para casa com os sapatos. Fiz que sim com a cabeça. Sorri de novo e isso passou a ser minha linguagem.
No outro dia tive minha primeira experiência de acordar sendo chamado e feliz. Foi me levantar, vestir aquele que seria meu uniforme, meus sapatos novos e meias, e fazer um lanche. Depois dona Zefinha foi comigo pra escola e ainda me deu uma merenda pra eu comer quando desse fome. Não disse o que era, só soube na hora do recreio: pão com goiabada. Comi com olhos e boca.
Os colegas da minha sala eram mais ou menos do meu tamanho. Mas gostei mesmo foi de ver que a Rê era da minha turma. Ela me recebeu alegre e disse que ia sentar comigo. Foi logo falando pra professora que eu era seu amigo e ela queria ficar perto de mim. Engraçado é que ela foi se mudando com os livros sem nem ouvir a resposta que viria. Parece que a professora, que se chamava dona Sônia, já estava acostumada com o jeito dela, porque não se importou. E a Rê passou a ser minha amiga de todo dia e a primeira a me perguntar:
– Vem cá, menino da dona Zefinha, você não tem nome?
Baixei a cabeça encabulado.
– Tudo bem se seu nome for feio. Aqui na turma tem um menino que se chama Jagumundo. Um dia perguntei pra ele quem botou esse nome nele e ele disse que foi a mãe e que era uma mistura dos nomes dos avós Jacinto e Gurfael e do pai Raimundo. Vê se pode? O pessoal chama ele de Jagu.
– Meu nome é Antônio.
– Antônio, que nem o santo?
– É. Que nem. Mas meus amigos me chamam de Tonho.
– Tonho? Gostei. É bonitinho que nem você.
Senti minha cara esquentar de repente. Nunca pensei que conseguiria falar de novo e muito menos que ouviria alguém dizer que eu e meu nome fôssemos bonitinhos. Mas gostei muito de ouvir.
– Sabe, Tonho, eu tenho 10 anos e vou fazer 11 este mês. Quantos anos você tem?
Pensei rápido e respondi 12.
– Vai ter festa lá em casa, até fogueira. Gosto deste mês de junho por causa disso. Faço aniversário dia 5, e você?
Eu não sabia, mas me lembrei do santo e respondi 13.
– É por isso que você se chama Antônio então, – ela concluiu. – Aposto que dona Zefinha vai fazer o maior festão.
Fiquei quieto e acho que tão sério que ela mudou de assunto.
– Você quer levar meus cadernos pra copiar a matéria?
– Não, não precisa. A professora já disse que eu vou ficar pra reforço das aulas que perdi.
– Então tá. Vamos prestar atenção que a aula vai começar.
Eu nunca tinha ficado perto assim de uma menina. Meu coração só fazia ficar pulando. Tinha até medo de que ela ouvisse. Olhei de rabo de olho para os cabelos dela que tocavam na carteira enquanto escrevia no caderno. Linda, cheirando a rosa. A letra dela era redonda e, em vez de pingo no i, fazia um coração. Achei aquilo engraçado. Pensava comigo o quanto tinha a agradecer ao Nlandu. Não fosse ele, não poderia estar na turma da Rê. Mudei rápido de pensamento. Tinha medo de lembrar muito. Precisava apenas dessa nova vida.
A Rê passou a ser minha companhia constante e eu adorava isso. Tinha um jeito despachado e sempre uma opinião sobre as coisas, mas, apesar disso, nunca insistia em perguntas que eu não quisesse responder. De minha vida até ali, eu não falava. Fomos crescendo assim, com um silêncio essencial entre nós.

O tempo passou sem dores. Em seis anos fiz amigos como o Eraldo, o Tião, o Careca, que me ajudaram a reacreditar, e a Rê que foi se tornando o grande amor da minha vida. Acho que graças a isso fui perdendo aos poucos o medo de minha memória e comecei a olhar para o passado, sem neblina. Aos poucos contei pra Rê a minha história. Nesse percurso choramos juntos, muitas vezes. Foi aí que chegou essa vontade que me move até hoje. Justiça. Precisava fazer alguma coisa para impedir as desumanidades.
Foi da Rê a ideia de pedir à dona Lourdes para aprendermos a usar o único computador
da escola que tinha acesso à internet. Com aquele jeito dela, argumentou até vencer a diretora pelo cansaço. Ela então nos encaminhou ao funcionário responsável para que nos ensinasse. Aprendemos rápido e, em pouco tempo, o mundo chegou inteiro às nossas mãos e com ele a possibilidade de resposta. Com a autorização da dona Lourdes, fazíamos nossas pesquisas após as aulas. Queria saber tudo sobre escravidão: a negra e a sem cor. Lembrava das palavras do Nlandu: “A gente é escravo, pior do que aconteceu com minha gente”.
Resolvemos criar um blog e nele colocar todas as informações que fôssemos colhendo na internet sobre trabalho escravo. Fiquei assustado ao ver o comum da prática. Doíam as publicações. Lembravam o que havia vivido naquela fazenda.
Só experimentando uma realidade de outra natureza pude dimensionar a que vivera. Lembro do dia em que pedi ao seu Luís para deixar que eu o ajudasse na mercearia, e ele relutou muito em concordar. Pra mim era uma forma de agradecer por poder morar com eles, pra ele não. Ao término
das tarefas, fazia questão de me pagar ainda que eu não fizesse questão de receber. E eu insistia, não precisa; ele insistia, é o justo, trabalho é trabalho. E me deu de presente um cofre pra eu guardar o dinheiro comigo. Pensei que seria pra depois pagar pela comida, dormida e tudo o mais. Falei isso pra ele, que apenas sorriu e disse “não, meu menino, aqui não”.
Na internet descobri que há leis, eu não sabia, mas há leis para proteger as pessoas da exploração. Cumpridas não eram, mas existem, o que já era pra mim um conforto. Divulguei-as imediatamente no blog:
“Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.”
Eles cometeram todos os crimes contra mim, João, Nlandu, Zé Antunes e tantos outros. Punição alguma tiveram, não que eu tenha sabido. E eu queria saber. Falei pra Rê que eu queria ajudar a achar esses gatos e os donos deles pra botar na cadeia. Ela disse que ia junto. Pra onde, a gente ainda não sabia.
O que me movia era um misto de raiva e medo. Raiva do sonho usurpado e medo de me perpetuar escravo da raiva. Difícil conciliar justiça e liberdade, desafio tênue das humanidades.

Numa manhã, estava quieto com memórias de neblina, quando a Rê apareceu com seu sorriso calmo e disse que tinha um presente pra mim. Pediu que eu fechasse os olhos e colocou em minhas mãos um objeto, dizendo que o segurasse na altura do rosto. Em seguida começou a cantar baixinho: “Menino que vem de longe, perdido na escuridão, foi o sonho de seus olhos que levou meu coração”. Então disse “pode abrir”. Em minhas mãos, um espelho me refletia em existência e amor. Quis casar com a Rê e não queria esperar.
Começamos a fazer planos. Sonhávamos de mãos dadas, sem risco. Tínhamos terminado o
colégio no ano anterior. O seu Luís tinha me colocado no posto de gerente da mercearia. A Rê dava aulas pra crianças pequenas e ganhava algum dinheiro. Os pais dela tinham uma pequena casa desocupada que poderiam ceder pra morarmos. Estava meio velha, mas a gente reformava. Planejávamos e nos amávamos. Nosso primeiro beijo me envolveu inteiro com sensações insuspeitadas. Eu não sabia o que fazer com a língua nem com meu corpo, que não obedecia à razão. Acho que nem ela. Aos poucos fomos mapeando nossos corpos.
Falei para o seu Luís e dona Zefinha que queria me casar com a Rê. Eles deram um sorriso largo de concordância e sugeriram que fosse lá na casa dela fazer o pedido de casamento aos pais dela. Senti um frio por dentro, mas não falei nada. Como eu iria fazer isso?
Falei que não sabia como fazer e dona Zefinha disse que era simples. “Deixa que eu falo com a mãe da Rê, antes, e explico que meu menino quer
casar com a filha dela. Aí ela deve marcar um almoço de noivado e você vai lá e pede a mão da Rê.”
Fiquei quase apavorado. Pedir a mão? Como se faz isso? Não tive coragem de perguntar e achei melhor falar com minha futura noiva. Como imaginado, a Rê descomplicou tudo. Disse que ela já tinha dito que a gente queria se casar e ninguém tinha dito não.
E foi no meio do almoço que a dona Zefinha pediu: “Silêncio, que meu menino vai falar”. Eu tremia e suava, mas os olhos de acreditar da Rê me deram coragem e ali mesmo, me dissolvendo, disse aos pais dela que queria me casar pra sempre. E foi só abraço. Pensei na minha mãe, no meu pai, na minha vó Tonha e deixei as lágrimas chorarem inteiras dentro de mim. Eu não sabia que podia ser senhor do corpo, mas fui, e meio desajeitado rodopiei abraçado à Rê. Gosto forte de felicidade.
Ficou combinado que no dia 13 de junho seria nosso casamento. A Rê escolheu a data do que seria meu aniversário. Dia do santo xará, gostei da ideia. Nosso juiz de paz seria o seu José sapateiro,
bom igual ao José carpinteiro do Jesus da vó Tonha. Daí pra frente só os preparativos. Dona Lúcia doceira, seu Arthur alfaiate, dona Marta costureira, e mais um mundo de boa vontade.
E foi tempo da alegria. Descobri que era possível. Passei a ir, depois do trabalho na mercearia, para nossa futura casa fazer reformas. Aos sábados e domingos era mutirão. Os homens reformavam e as mulheres faziam a comida e ajudavam no que fosse preciso. Até as crianças participavam. A cidade inteira se casava conosco. Era a minha família transformada, renascida, multiplicada.
Quando tudo ficou pronto, realizamos. A Rê, brancamente linda no seu vestido encantado. Flores e véu. A cidade em gala a nosso lado. Reconheci o sentido da palavra alegria: é quando o mundo inteiro cabe no olhar da gente. Se soubesse, teria dito para o João, mas só agora descobria.
Passamos a primeira e todas as demais noites na nossa casa. Eu e minha mulher. Aos sábados reuníamos os amigos para conversar sobre tudo, mas o ponto principal era sempre o de obter informações sobre fazendas que mantivessem tra-
balhadores em regime de escravidão. Nossa tarefa era encaminhar as denúncias para o delegado que se encarregava de comunicar ao Ministério Público.
Numa noite recebi da Rê a notícia de que estava grávida. Um filho meu, um filho nosso. Não sei o tempo que fiquei parado sem reação diante de seu olhar aberto. Um filho. Ou filha. Alguém que se juntava a nós e nos envolvia num elo. Não sei por quanto tempo sorri. Só sei que me ajoelhei acariciando seu ventre de filho bendito. Queria ficar ao lado dele, dela, pra sempre na inteireza do olhar de meu pai.
Tempo de espera e de carinho. Ela se desajeitando pra todo lado numa barriga que crescia em direção a mim. Linda se achando feia, só de beleza se fazendo. Compramos um berço que ficou cheio de rendas e fitas em lençóis bordados por mãos de avós que vinham de todos os lados. O nascimento sob os cuidados da parteira Maria.
Meu filho. Nosso filho. Elo.
Precisava ver minha mãe, minha vó Tonha, meus irmãos. Mais gente havia chegado na nossa família. Precisava mostrar o meu filho pra sua bi-
savó, avó, tios que nem sabiam sequer que eu ainda existia.
Falei isso pra Rê e ela disse que ia junto, mas pra onde eu não sabia. Minha memória de menino era muito pouca pra lembrar. Comecei a recompor pedaços de infância pra tentar localizar, em algum canto escondido, um sinal que me ancorasse. Foram dias de espera e busca.
Arrisquei que eu podia ter vindo de uma cidadezinha a muitos quilômetros dali. Pelos meus pedaços de memória e pesquisa, vi que teria de pegar um avião pra fazer o caminho de volta. E depois por terra, parte do caminho.
Tínhamos nossas economias e com elas resolvemos seguir. Programamos nossa saída com a certeza da volta. Foram muitas as despedidas. Algumas choradas. Um carro nos levou até a cidade mais próxima, onde pegaríamos um pequeno avião com mais algumas pessoas.
Memórias chegando. Medo ausente. A Rê calma com nosso filho nos braços. Voz nenhuma. O zunido do motor do avião chegava a mim como canção dispersa. Não sabia o que encontraria ou
se encontraria. Foi uma viagem curta. Depois um ônibus completou o caminho.
Havia em mim um arremedo de lembrança. Um pontilhar de alguma coisa de cheiro, alguma coisa de verde, alguma coisa de telha partida, mato seco, chão de terra. Chegamos ao que seria a praça principal. Reconheci a velha igreja e as escadarias. Coração na boca. Minha casa era perto. Na rua de trás, sim, na rua de trás. Gritei pro motorista parar o ônibus. Peguei nossas bagagens e eu fui sendo levado pelo umbigo de volta à minha casa. A Rê, com nosso filho nos braços, sorria.
Cheguei diante de um pequeno portão de madeira. Abri devagar e caminhei até a porta. Não sabia se batia ou chamava. Um olhar por trás de cabelos brancos chegou à janela. “Mãe, sou eu, Tonho, seu pedaço perdido.”
Ela não saiu do lugar. A porta foi aberta por uma moça que me olhou de um jeito de querer entender e disse “entra”. Fui até a janela onde estava minha mãe. Ela estendeu os braços e eu só fiz me aconchegar na dor de seus cabelos. Ficamos abraçados nos reconhecendo. Depois lhe mostrei a Rê
e nosso filho, que ela abraçou inteiros. Fiquei sabendo que a moça da porta era casada com um dos meus irmãos e que toda a história ali me ia ser contada. Perguntei pela vó Tonha. Silêncio. Estava morando em outro lugar.
Fomos acomodados na casa de minha mãe. Não deu pra contar abraços e lágrimas. Fui lembrando o nome de meus irmãos. Zito, Maneco, Dezinho, Anginha, Toquinho. A caçula vim saber que chamavam de Belinha. Todos ali reunidos em torno de nós. A casa sem o chão de terra batida comportava pés calçados. Havia comida e um conforto modesto conquistado pelo trabalho de todos. As conversas de um tempo sem fim. Fomos dormir bem tarde aquecidos pelo reencontro.
No outro dia tomei o rumo da casa da vó Tonha. Comigo, a Rê e nosso filho. Conhecia o lugar. Na chegada um portão largo e um terreno plano marcado por alguns relevos de cruzes e flores. Andamos num caminho estreito que nos levava a vó Tonha. O lugar era baixo, de um cimento tosco. Uma placa sem retrato trazia seu nome:
11.7.1927 ✝ 17.9.1998
Fui logo de joelhos dizendo: “Vó, sou eu, seu Tonho que voltou. Senti tanto a sua falta, tanto, tanto. Vi terras perigosas, fantasmas e monstros que me queimaram em dores de sangue, mas estou aqui, minha vó. Tive fome, tive medo, gatos feras me atacaram, me feriram, me sangraram, mas eu estou aqui, minha vó. Eu, minha princesa encantada e nosso João ressuscitado na inteireza do possível. São as flores que trago, minha vó, do que sei de oração”.
Saímos dali silenciosos de volta ao nosso caminho. Regina, meu filho João e eu.
Em 2007, fui convidada a ir à África. O destino, Angola, que àquela altura já estava em pleno processo de reconstrução após a demorada guerra civil. A emoção de pisar naquele solo de onde saíram meus ancestrais, em situação bárbara, vítimas da escravidão, me fez doer por inteiro. E por lá fiquei um tempo, não grande, visitando lugares ícones, como o Museu da Escravatura, e conhecendo províncias. Em algum lugar em mim, dores insuspeitadas se acenderam e eu saí dali com o olhar mais afiado e caçador.
No Brasil, permaneci em alerta a tudo que representasse formas de opressão. Foi meu filho que me trouxe documentos e materiais que deflagraram uma pesquisa que seguia em duas direções: para dentro e para fora. Queria entender o que levava alguém a escravizar e explorar seu semelhante, ao mesmo tempo que eu buscava marcas da dor que as opressões sofridas haviam deixado em meu espírito. Foi um processo que durou dois anos.
A partir de um dos documentos sobre trabalho escravo no Brasil, que abre o livro, foi que criei o personagem. Aquele menino de 10 anos que sumiu na floresta, fugindo dos tiros, e que desapareceu. Eu o “encontrei” e segui com ele a saga da desventura que é ter os sonhos usurpados, a infância roubada pela opressão, pelo autoritarismo, pela carência e pela mentira.
Ieda de OlIveIraDizem que escravidão é coisa do passado e que toda pessoa tem o direito à cidadania. Mas... o que de fato isso quer dizer? Bem, um cidadão é uma pessoa com diversos tipos de direitos, que ainda precisam ser consolidados em nosso país. Por exemplo, toda pessoa tem direito à moradia e à escola, certo? Se é assim, por que será que tem tanta gente sem teto, vivendo em comunidades precárias ou sofrendo para pagar o aluguel? Por que tem tanta criança fora da escola vendendo bala no semáforo?
Este livro começa com uma carta-denúncia verídica sobre o trabalho escravo. A carta inspira a autora da obra, Ieda de Oliveira, a narrar a saga do menino Tonho, que cresce ouvindo as histórias antigas da avó. Entre as narrativas contadas por essa senhora muito especial que “via verde na terra seca, comida em prato vazio, flores em galhos secos”, a preferida do neto é a do Gato de Botas. O menino acaba se convencendo de que ele é o próprio Marquês de Marabá da história, um homem destinado a mudar sua condição social e ficar rico, com a ajuda do gato. Mas, em vez do Gato de Botas, Tonho encontra mesmo é o Gato Barbosa, que na visão do menino promete “ajudar todo mundo a ficar rico”, mas leva embora os sonhos e a infância dele.
A dura realidade vivida no trabalho escravo deixa marcas profundas nas pessoas oprimidas, que só superam essas marcas pela ação assertiva e pela compaixão, com atitudes de combate a essa forma de exploração desumana em nome de algo maior — algo chamado justiça social.
Algo maior? Como assim?
Até o fim do século XIX, a economia brasileira era movida a trabalho escravo: pessoas escravizadas extraíam da terra recursos — açúcar, ouro, borracha e café, entre outros — que
depois eram vendidos no exterior. O Brasil é, portanto, um país herdeiro da escravidão, assim como os outros países do continente americano. Convivemos com o resultado desse disparate, fruto de uma construção histórica iniciada pelos povos de origem europeia que aqui chegaram, dominando as populações nativas e trazendo à força milhões de negros da África, sobretudo da costa ocidental do continente. Hoje, na escravidão moderna, não há mais os negros escravizados pelo tráfico negreiro da época do Brasil colonial, mas ainda há pessoas vivendo em situações análogas à escravidão — aquelas em que se nega ao trabalhador o direito à liberdade e à dignidade. Isso porque, após a Lei Áurea (1888), os escravizados libertos ficaram à margem da sociedade: sem emprego nem direitos básicos de cidadania, foram classificados como “vadios”, “vagabundos”. Em 1941, chegou a ser aprovada uma lei que criminalizava a vadiagem, isto é, tornava crime a desocupação de uma pessoa apta ao trabalho — acredite se quiser!
Essa herança depreciadora da ancestralidade africana ainda é uma realidade. A maioria dos afrodescendentes só têm acesso a empregos informais, a moradias precárias, a saúde e a educação de baixa qualidade, isso quando não estão na miséria extrema, vivendo nas ruas das grandes cidades e passando fome no campo. E não estão sozinhos. Muitos indígenas, migrantes internos, imigrantes latino-americanos e refugiados de diversos países também sofrem preconceito e têm dificuldade para ter o reconhecimento de seus direitos como cidadãos. Somos um país misturado, miscigenado, com a presença de várias etnias; no entanto, por causa do preconceito e da desigualdade, há grupos sociais menos favorecidos que outros. Uma pena, mas é a realidade que vivemos no país.
Somos todos, porém, iguais perante a justiça. Ninguém é superior ou inferior a ninguém. Todos possuímos direitos e deveres dentro da sociedade em que vivemos. Então, é importante que a justiça impeça maus-tratos contra todos os cidadãos.
Crianças e jovens, uni-vos pelo fim do trabalho escravo!
As cores da escravidão explicita um dos grandes problemas sociais do Brasil: a existência de formas de trabalho escravo na atualidade. “Eles cometeram todos os crimes contra mim, João, Nlandu, Zé Antunes e tantos outros. Punição alguma tiveram, não que eu tenha sabido. E eu queria saber”, diz o protagonista, na página 80, ao tomar consciência de que havia leis para proteger as pessoas da exploração.
Embora haja legislação no país para coibir esse tipo de opressão, como o próprio livro destaca, nas páginas 79 e 80, ao citar o artigo 149 do Código Penal, essa é uma prática ainda comum em todo o território nacional. Em 2021, foram resgatadas 1.937 pessoas em situação de escravidão no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto (2022), as seis atividades econômicas com maior ocorrência de trabalho análogo à escravidão estão ligadas à produção agropecuária: cultivo de café, cultivo de alho, produção de carvão vegetal, preparação de terreno, cultivo de cana-de-açúcar e criação de gado, nesta ordem.
Nosso protagonista Tonho e seu amigo trabalham na derrubada da mata, cortando árvores para “preparar” o terreno para a agropecuária. Na fazenda, os dois meninos e os outros empregados são mantidos como escravizados, uma vez que eles se endividam pela compra de comida, pelas roupas e ferramentas de trabalho, pela própria viagem de seus locais de origem até a fazenda; tudo ali é cobrado pelo patrão, de forma que os trabalhadores desenvolvem uma dívida exorbitante, absolutamente impagável. É assim que os trabalhadores rurais da escravidão moderna se tornam prisioneiros, pois jamais conseguirão zerar suas dívidas. Essa prática, conhecida como “servidão por dívida”, é enquadrada no artigo 149 do Código Penal, documento que define os crimes e suas punições em nosso país.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é chamada de “gato” a pessoa que atrai o trabalhador para exercer funções em outras localidades, prometendo a ele falsas recompensas, como enriquecer. O “gato” intermedeia a mão de obra entre o empregador e o empregado, que não tem acesso ao mercado de trabalho formal nem aos meios de produção, ou seja, a terra. Por isso, uma das formas de erradicar o trabalho escravo no Brasil é a formalização desses trabalhadores, bem como a titulação de terras.
Outro problema social apontado no livro As cores da escravidão é o trabalho infantil. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças, ratificada pelo Brasil, determina, em seu Princípio IX, que:
Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada; em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela se imponha, qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral (UNICEF, 1959).
Infelizmente, a realidade brasileira e mundial está longe de obedecer a esse princípio tão importante. Em 2021, o trabalho infantil atingia 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo; em nosso país, mesmo antes da pandemia de covid-19, já havia mais de 1,7 milhão de pessoas nessa situação (UNICEF, 2021). Como resultado do aumento da miséria e da fome no contexto pandêmico, esse número tem aumentado, devido à vulnerabilidade das famílias mais pobres, que, por falta de dinheiro, retiram as crianças das escolas e as colocam para trabalhar. Por isso, é essencial que os governos (federal, estaduais e municipais) invistam em políticas de proteção social que permitam às famílias manter seus filhos na escola, mesmo em casos de dificuldades econômicas. É o caso, por exemplo, do
apoio à agricultura familiar, que garante condições dignas de trabalho e renda aos pequenos trabalhadores rurais, responsáveis pela maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Essa é uma agricultura que também utiliza menos fertilizantes químicos e pesticidas, isso quando não produz alimentos orgânicos, totalmente isentos de agrotóxicos — bons para a saúde do solo, dos rios e também das pessoas. No momento crucial em que vivemos, com extinção de espécies animais e mudanças drásticas no clima global ameaçando a própria vida humana na Terra, é fundamental criarmos políticas econômicas mais sustentáveis, que enxerguem o trabalhador agrícola como parte essencial desse processo produtivo. Podemos, assim, reverter a situação de descaso social e ambiental e quebrar o ciclo da pobreza e dos trabalhos escravo e infantil. A entrada no mundo da escravidão por dívidas soterrou os sonhos de infância do protagonista Tonho, assim como os sonhos de outras pessoas que passaram por isso antes dele. São sucessivas gerações repetindo a mesma história de espoliação. Tonho, porém, consegue fugir da fazenda que o mantinha escravizado e escreve uma história de superação, ganhando o apoio da família que o adota. Com essa narrativa, aprendemos que estamos todos conectados, que não é possível prosperar na vida sem estabelecer parcerias e vínculos reais de amor e amizade. Aprendemos também que há um amor maior, que sentimos quando nos preocupamos com a vida de alguém que sequer conhecemos, como é o caso de Tonho. Um amor pela humanidade!
No romance As cores da escravidão, podemos nos aprofundar em importantes questões históricas e sociais brasileiras. Ao acompanhar a saga do menino Tonho, desde sua viagem na carreta apinhada de gente e no avião rumo à fazenda dis-
tante, até os desafios e perrengues vivenciados na nova situação em que se encontra, nos deparamos com ricos diálogos entre os personagens. Tonho faz uma grande descoberta por esferas mais amplas, sai do seu mundo familiar para adentrar o mundo que o rodeia, desbravando meios hostis em busca de cidadania. Ele se alfabetiza e, anos mais tarde, forma um grupo de pesquisa com colegas de escola. Eles publicam num blog as descobertas que fazem sobre trabalho escravo e, com base nesses estudos, Tonho dimensiona o que viveu na infância. Surge, nele, uma ética social e histórica a partir de um olhar para o passado, tanto pessoal como coletivo. É por isso que o livro se enquadra nos seguintes grupos temáticos: sociedade, política e cidadania; diálogos com a história e a filosofia. O enredo é adequado para ser lido por estudantes do 8o e do 9o anos, que, como você, estão prontos para observar os elementos da estrutura narrativa de um bom romance, absorvendo cada detalhe apresentado na trama.
Em As cores da escravidão , a descrição dos cenários, a composição dos personagens e a narração dos eventos são elaboradas de forma a dialogar com o leitor, para alimentar seu interesse pelo enredo — a cada parágrafo! A leitura de um romance permite observar a criação literária, o processo em que uma autora como Ieda de Oliveira escolhe palavras para relatar ações, reproduzir pensamentos, visualizar e concretizar sonhos, localizar espaços, tensionar e resolver conflitos, traçar uma radiografia de cada personagem, descrever passagens de tempo, estabelecer analogias e metáforas. Isso tudo acontece na escrita, e é nela que a autora emprega seu estilo único. Esse estilo se revela no uso e na sonoridade das palavras, nas figuras de linguagem, no aspecto visual e na organização do texto.
Como o nome “criação literária” sugere, As cores da escravidão é uma obra de ficção, ou seja, é um texto que permite a liberdade criativa, ao contrário do texto informativo, que se
compromete a relatar o que acontece na realidade. Entretanto, ainda que a autora possa inventar os fatos, personagens e cenários, ela deve obedecer à regra da verossimilhança, que exige um enredo crível, isto é, um enredo com coesão e coerência no qual o leitor possa acreditar, ainda que não seja uma história real.
Tonho é um personagem fictício, mas tudo o que acontece com ele poderia ter acontecido com um brasileiro no século XX. Neste livro, a relação com os fatos é reforçada pela carta-denúncia que inicia o livro e inspira a narrativa. E, além de parecer verdadeira, a história precisa estar de acordo com as características do gênero literário a que pertence, no caso, o romance (falaremos dessas características mais adiante).
Outro recurso da boa obra de ficção está naquilo que não é dito, ou seja, nas informações a respeito dos fatos e personagens que o narrador deixa de enunciar. Mais do que um engano, essa ausência constitui um chamariz a mais para o leitor, que é convidado a participar da narrativa com a própria imaginação, seu raciocínio lógico e sua experiência de vida. Mais do que trazer respostas prontas, um romance deixa perguntas abertas para o leitor. O que pode ter acontecido com João e Tonho antes do início da narrativa?
Como foi a vida de vó Tonha? E a de Nlandu? O que mais pode ter acontecido com os dois meninos durante a estadia na fazenda? O que será que aconteceu com Tonho no fim da história, quando revisitou sua família? E depois disso, o que terá ocorrido? O que o narrador pode ter omitido do leitor?
Cada personagem e cada evento daria uma história à parte, que você, leitor, pode elaborar, narrando o que o romance não revela a partir do que ele conta. E você achando que ler era só absorver o texto escrito pelo autor! Nada disso! O leitor também é ativo. Isso acontece quando nos aprofundamos na experiência, lendo e relendo o livro.
Como já dissemos, As cores da escravidão é um livro do gênero romance. Você sabe bem o que é um romance? Se não sabe, vamos retomar — e está tudo bem. Para começar, romance é um gênero literário, ou seja, um tipo de texto de literatura de ficção. Os textos desse tipo têm uma estrutura comum, composta de enredo (a conexão entre os fatos da história), personagens, foco narrativo (o tipo de narrador), espaço (onde a história se passa) e tempo.
Vamos lá: o que faz de um romance um romance? Um bom jeito de descobrir isso é compará-lo ao conto. No romance, o enredo é longo, cheio de fatos principais e secundários. Os personagens também são variados, uns mais importantes para a narrativa do que outros. O tempo e o espaço são complexos, podendo percorrer diferentes lugares e momentos da vida dos personagens. Que rico!
É isso que ocorre com Tonho, que embarca com seu amigo João em uma viagem extensa, cheia de percalços. Ele conhece outros trabalhadores na mesma situação, assim como capatazes que os exploram, para depois entender melhor a real situação em que se meteu e, por fim, encontrar pessoas boas que o ajudam. O foco narrativo viaja com as histórias que Tonho conta, assim como com as reflexões que ele e o melhor amigo proporcionam ao leitor.
O conto, por sua vez, é menor, mas isso não significa que seja menos rico, pois tem tudo condensado. Já imaginou o desafio? Narrativa curta, enredo breve, poucos personagens e conflitos (todos importantíssimos), tempo e espaço bem delimitados — uma estrutura capaz de gerar impacto tanto quanto um romance.
Hoje, o romance é a forma literária mais popular, liderando as listas de livros de ficção mais vendidos, embora seja um gênero muito mais recente do que o conto e a poesia. É literatura
para todos, ao alcance do leitor tanto em papel impresso quanto nas telas digitais. Mas, você pode estar se perguntando, como o romance se tornou assim tão popular? Vamos a essa história, e é pra já.
Atualmente, o romance é muito popular, mas quando surgiu era considerado um gênero menor, inferior aos gêneros lírico e dramático, empregados pelos autores que buscavam reconhecimento. Luís de Camões (c. 1524-1580), por exemplo, destacou-se com o poema épico Os Lusíadas , e William Shakespeare (1564-1616) tornou-se um dos maiores dramaturgos de todos os tempos.
Se, de um lado, deuses e heróis protagonizavam as líricas e epopeias, de outro a pessoa comum se tornava o personagem principal do romance, contribuindo para que o gênero se popularizasse. A pesquisadora, professora e escritora de literatura juvenil Marisa Lajolo, no livro Como e por que ler o romance brasileiro, explica como isso aconteceu:
Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em função do entretenimento que proporciona a seus leitores e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e com o prazer que o romance não teve um percurso fácil. Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida de pessoas comuns, parecidas com a de seus
leitores. Por isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a literatura.
Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — personagens, cenários e ações postos em movimento por uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer acontecerem coisas sob os olhos de quem lê.
[…]
Como acontece com todas as formas de lazer — do baile funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os chamados clássicos — duram mais do que outros, são de todos os tempos: mas cada tempo tem seus romances (2004, p. 29 e 30).
Apesar da resistência enfrentada inicialmente, as características narrativas do romance e sua proposta de envolver os leitores garantiram sua aceitação e difusão, levando-o a se tornar o gênero mais célebre da atualidade, inclusive entre os jovens — constantemente há grandes lançamentos para esse público, e obras populares são adaptadas para o cinema, como as do personagem Harry Potter.
Falando nisso, você sabe como e quando surgiu a literatura voltada para crianças e jovens? É o que veremos adiante.
A literatura juvenil: uma debutante
Você sabia que a ideia de literatura infantil não nasceu com a literatura? E muito menos a ideia de literatura juvenil! Pois é... na história, é relativamente recente a compreensão de que a infância e a adolescência são fases diferentes da vida adulta, com necessidades específicas. Até o início da Revolução Industrial, no século XVIII, era comum que crianças,
adolescentes e adultos desempenhassem as mesmas funções e cumprissem a mesma carga horária de trabalho. Nesse período, porém, o Parlamento inglês começou a estabelecer leis que limitavam o trabalho de menores de idade. Com isso, as crianças passaram a frequentar a escola e surgiu um novo público leitor. Como consequência, a produção de livros didáticos e literários voltados para esse público ganhou um enorme impulso.
A pesquisadora Regina Zilberman (2003) afirma que a literatura para crianças e jovens foi vinculada desde o início à formação para os valores e, principalmente, à formação escolar. Não por acaso, os primeiros textos direcionados ao público infantil foram escritos por pedagogos e professores e apresentavam um propósito educativo.
É preciso lembrar ainda que, historicamente, os livros direcionados a leitores adolescentes foram concebidos depois dos livros para crianças. Havia autores que escreviam sobre a adolescência, mas não havia quem escrevesse especificamente para adolescentes. Até hoje, há críticos que questionam se, de fato, é necessária uma produção literária específica para essa faixa etária. É por isso que a chamada literatura juvenil é a debutante no baile das literaturas. Mas ser jovem não significa ser inferior, como você já sabe, né?
Considerando a análise da professora Marisa Lajolo, que enxerga no romance um reflexo da sociedade, é natural que adolescentes como você desejem se ver representados nas obras desse gênero literário, identificando as angústias, as paixões e os medos próprios da sua idade. Evidentemente, isso não daria origem a uma literatura rasa ou moralizante, mas a uma produção que contemple as suas experiências, na qual você possa encontrar um pedaço de si. E isso acontece sempre que a narrativa é boa, ou seja, bem elaborada. Como? Vejamos a seguir.
Os efeitos de uma boa narrativa
Ao elaborar o texto narrativo, uma das primeiras escolhas do autor é o tipo de narrador que a história terá. Se você pensava que o narrador era o autor da história, enganou-se: ele é um ser ficcional criado pelo autor para contar a história para o leitor.
As cores da escravidão é um romance narrado em primeira pessoa, por um narrador protagonista, ou seja, é contado por alguém que não apenas participa da história como também é o personagem principal — o menino Tonho. Mas os fatos contados pelo narrador não são necessariamente apenas aqueles que acontecem com ele; podem ser também as experiências de outro personagem. Assim, Tonho conta a história de como seu sonho de enricar tornou-se seu maior pesadelo, mas também relata as desventuras do amigo João, bem como a culpa que sente por tê-lo envolvido na história, além de narrar também vivências de outros personagens, como a vó Tonha ou dona Zefinha.
Além dessas variações no foco narrativo, o tempo da narrativa também pode oscilar, de forma a compor uma história dinâmica, boa de ler! Geralmente, o tempo de uma história é o cronológico, que obedece à linha de acontecimentos como na nossa vida, com passado, presente e futuro. Mas o escritor também pode reorganizar os fatos narrados com o objetivo de prender a atenção do leitor na história e entretê-lo, dando um rumo inesperado ao enredo ou deixando para revelar uma informação importante mais para a frente, por exemplo. É assim, que, logo no início de Torto arado, o narrador criado por Itamar Vieira Júnior relata um acidente em que uma das irmãs (Bibiana e Belonísia) perde a língua e fica muda. Por meio de vários artifícios do texto, lemos toda a primeira parte desse romance sem saber qual das irmãs foi a vítima. É só no fim dessa parte que a informação aparece, num momento crucial da narrativa.
Essas são escolhas bem elaboradas pelo escritor, assim como pelo contador de histórias. Senão, vejamos: quem nunca
usou a pausa, a mudança de ritmo, o sussurro, o grito, o fato inesperado e outros recursos para causar um efeito no ouvinte? É só observar as rodinhas de conversas na escola para perceber como surgem a risada, o grito de susto, o suspiro aliviado, o olhar de interesse...
Logo no início de As cores da escravidão, o leitor se depara com uma carta-denúncia verídica, e os capítulos que se seguem vão se desenrolar, em tempo cronológico, a partir dessa denúncia inicial. No relato do menino, ele parte de casa ainda criança, numa carroça lotada de gente, para chegar à fazenda num local desconhecido, sofrer a forma moderna de escravidão, escapar para outro local, ser acolhido por um novo lar, se casar e, por fim, retornar ao povoado onde mora sua família.
Mas Ieda de Oliveira também trabalha com um tempo cíclico, em que podemos perceber a repetição de certos eventos, abrindo e fechando ciclos infinitos: a vida dura no campo é passada de geração para geração, como se o passado se repetisse no presente. A sucessão das estações do ano, das lunações e dos dias e noites, por exemplo, também pertence a essa ideia de tempo cíclico, pois se repete.
Entretanto, Tonho, que sabe o desfecho das histórias contadas pela avó, não quer ver os mesmos finais infelizes se repetirem. Ele sente o desejo de mudar, de se superar. Iniciar novos ciclos. Uma escritora para todos os públicos
Ieda de Oliveira é escritora, compositora e pesquisadora. Sua obra literária e musical é voltada para o público infantil e juvenil. É doutora em Estudos Comparados de Literaturas em Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), mestra em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e especialista em Literatura
Infantil e Juvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Por seu trabalho literário e teórico, recebeu prêmios nacionais e internacionais, como o Adolfo Aizen de Literatura Infantil e a seleção do catálogo White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude (Munique, Alemanha).
Sua obra teórica é referência no curso de Letras de várias universidades brasileiras. Dentre as inúmeras obras da autora voltadas ao público infantil e juvenil, a mais recente está ligada aos seus estudos musicais. Trata-se da coleção Danças do Brasil, lançada em 2022 em três volumes, que aborda as danças tradicionais brasileiras. Ieda de Oliveira também promove o podcast Cinco Minutos de Literatura, em que conversa com outros escritores e apresenta suas próprias obras para os ouvintes.
Em 2019, As cores da escravidão foi a obra mais lida entre os detentos do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal (CARVALHO, 2019). Por abordar com profundidade assuntos como a pobreza, situações de vulnerabilidade e traumas psicológicos, essa história sobre inocência roubada e sonhos frustrados caiu no gosto dos encarcerados, liderando a preferência deles à frente de clássicos como Crime e castigo, do escritor russo Fiódor Dostoiévski, e Capitães da areia, do baiano Jorge Amado. A iniciativa partiu de um projeto chamado Remissão de Pena pela Leitura, em que é possível reduzir quatro dias de pena por obra lida. Com iniciativas como essa, as pessoas presas podem aproveitar o tempo ocioso para ler e, ao mesmo tempo que se instruem e ampliam sua visão de mundo, conseguem reduzir as penas às quais foram sentenciadas.
Rogério Borges nasceu em Curitiba e em 1971 mudou-se para São Paulo a fim de cursar a faculdade de Comunicação Visual. Faz ilustração desde a década de 1970, tendo trabalhado para
diversas editoras de livros e revistas. Na década seguinte, iniciou carreira como pintor enquanto continuava a atuar como ilustrador. Já participou de exposições nacionais e internacionais de ilustradores, além de ter recebido prêmios como o Jabuti de Ilustração e a láurea da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), entre outros. Em As cores da escravidão, suas ilustrações são sensíveis, remetendo aos sentimentos que os personagens carregam. Na capa, Borges consegue resumir de forma poética, por meio da imagem de um par de botas, toda a intricada teia que se forma entre a fantasia do menino Tonho, que sonha ser o Marquês de Marabá, e a dura realidade da lida na fazenda, num trabalho análogo à escravidão. Já nas imagens de abertura de cada capítulo, Borges desafia a curiosidade do leitor e o instiga a descobrir os próximos passos da história, antecipando — sem revelar completamente — o que será lido. Nós, leitores, sentimos profunda empatia pelos personagens ao fitar cada desenho de Borges. Uma emoção sem igual.
As sementes da liberdade
A narrativa de Ieda de Oliveira e seu protagonista nos remete a problemas brasileiros reais, negligenciados até hoje. Mas... epa?! A escravidão no Brasil não foi abolida há mais de um século? Negativo. Quer dizer, sim, positivo, ela foi abolida no papel, mas infelizmente, de certa forma, ainda é mantida na prática: a escravidão moderna ainda é uma realidade muito presente em nosso país.
Ao ler a história do menino Tonho, suas esperanças, dissabores e aventuras, adentramos um mundo hostil, mas também repleto de vínculos e parcerias entre as pessoas, onde sentimos que uma nova configuração da vida — pessoal e coletiva — é possível. A trama é tão bem amarrada que ficamos nos perguntando sobre as possíveis soluções para tamanho descaso com as pessoas que mais precisam de ajuda.
Na profundidade dos diálogos, nas ideias que valorizam a compaixão e a amizade, que valorizam o que o mundo infantil tem de melhor — a curiosidade, o olhar fresco para o mundo, a percepção do que é realmente importante, os vínculos entre as pessoas —, encontramos espaço para crescer interiormente. E é por isso que o livro diz muito para todas as faixas etárias, mesmo tendo como protagonista uma criança.
É importante lembrar, ainda, que o livro promove os valores da ética e da justiça. Se o mundo está precisando de ajuda, se a humanidade carece de mais união, e a natureza, de esforços conjuntos, devemos nos conectar uns aos outros para lutar em prol do planeta, de uma vida sustentável e digna para todos. Precisamos, e muito, escrever, debater e agir em nome desses assuntos, para mais e mais pessoas se convencerem de que o bom mesmo é habitar um planeta harmônico, exuberante, com igualdade de oportunidades para todos.
Se cada um de nós plantar no coração a semente dos bons valores e das boas ações, um novo mundo vai brotar. E aí, topa cultivar essa semente?
CARVALHO, Letícia. ‘As cores da escravidão’ e ‘Crime e castigo’: veja livros que lideram preferência dos presos do DF. G1, Brasília, 24 jun. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/ noticia/2019/06/24/as-cores-da-escravidao-e-crime-e-castigo-vejalivros-que-lideram-preferencia-dos-presos-do-df.ghtml. Acesso em: 18 jul. 2022.
LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.
SAKAMOTO, Leonardo. Brasil fecha 2021 com 1937 resgatados da escravidão, maior soma desde 2013. Repórter Brasil, São Paulo, 28 jan. 2022. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2022/01/ brasil-fecha-2021-com-1937-resgatados-da-escravidao-maiorsoma-desde-2013. Acesso em: 18 jul. 2022.
UNICEF. Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 20 nov. 1959. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ declaracao_universal_direitos_crianca.pdf. Acesso em: 22 jul. 2022.
UNICEF. Trabalho infantil aumenta pela primeira vez em duas décadas e atinge um total de 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Fundo das Nações Unidas para a Infância, Nova York, Genebra e Brasília, 10 jun. 2021. Disponível em: www.unicef.org/ brazil/comunicados-de-imprensa/trabalho-infantil-aumenta-pelaprimeira-vez-em-duas-decadas-e-atinge-um-total-de-160-milhoesde-criancas-e-adolescentes-no-mundo. Acesso em: 18 jul. 2022.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2003.


Uma história sobre inocência roubada, sonhos invadidos, infância escravizada. Mas também sobre esperança, compaixão, amizade e amor.

“Olhar o mundo nos olhos é a verdadeira postura dos heróis. Aqui, o que se pede de nós é que, ombro a ombro com o herói do livro, sustentemos a vista firme diante da feia visão daquilo que nós, seres humanos, cometemos contra nosso semelhante, e com isso compartilhemos, do fundo da alma, a urgência de dizer: não mais! Daremos conta do recado?”
AdriAnA LisboA
