Clara, violino e orque S tra



a ngela l eite de s ouza Ilustrações de Paulo o tero
Clara, violino e orquestra
Copyright © Livraria La Fontaine, 2021 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida por quaisquer meios existentes sem autorização por escrito dos editores e detentores dos direitos.
A eDOC BRASIL declara para os devidos fins que a ficha catalográfica constante nesse documento foi elaborada por profissional bibliotecário, devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia. Certifica que a ficha está de acordo com as normas do Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2), as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com a Lei Federal n. 10.753/03.
Direção editorial: Wagner Bocianoski Joaquim
Edição: Denis Antonio e Sergio Alves Projeto gráfico e diagramação: Estúdio Caraminhoca Ilustrações: Paulo Otero Revisão: Caraminhoca
Material digital do professor: Flávia Brandão e Roberta Martins Produção gráfica: Lais Dantas
É permitida a alteração da tipografia, tamanho e cor da fonte da ficha catalográfica de modo a corresponder com a obra em que ela será utilizada. Outras alterações relacionadas com a formatação da ficha catalográfica também são permitidas, desde que os parágrafos e pontuações sejam mantidos. O cabeçalho e o rodapé deverão ser mantidos inalterados. Alterações de cunho técnico documental não estão autorizadas. Para isto, entre em contato conosco

Vídeos tutoriais Organização: Wagner Bocianoski Joaquim Produção: Equipe M10
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

Souza, Angela Leite de S729c Clara, violino e orquestra / Angela Leite de Souza ; ilustrações Paulo Otero Lages, SC: La Fontaine, 2021 160 p. : il. ; 13,5 x 20,5 cm
ISBN 978 65 89734 02 4 (Aluno) ISBN 978 65 89734 03 1 (Professor)
1. Ficção brasileira. 2. Literatura infantojuvenil. I. Otero, Paulo II. Título. CDD 028.5
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422
07750-000
Cajamar
Rua Cel. Joaquim Tibúrcio, 869 - Belo Horizonte/MG. CEP.: 31741-570 Contato: (31) 9 8837-8378 | contato@edocbrasil.com.br www.edocbrasil.com.br

Com nome diferente e uma ou outra roupagem diversa das que usa aqui, Clara existiu mesmo. Estaria viva – quem sabe? – se não neste mundo, ao menos na memória de quantos participaram de seu drama. Estes talvez se reconheçam no enredo que se lerá. Suas identidades foram substituídas por outras, com o precioso auxílio de um dicionário de nomes e sobrenomes. Graças a essa pesquisa de muitos dias, nenhuma personagem deste romance foi “batizada” aleatoriamente: cada uma se chama pelo que é, pelo que faz ou aparenta. Portanto, não creio que o fato de um ou outro leitor reconhecer-se na pele de algum deles possa melindrar alguém. Afinal, não seria esta a primeira vez em que a arte imita a vida...
Regente: NUNO PAcelli · Spalla: clARA SPReNgeR
Clara Santa Cruz Aleixo Clara Lima Furtado Ruth Furtado Mucker
Isabel Santa Cruz Aleixo Hélio Guarneri Daniel Mucker Labão Débora L. Furtado
SEGUNDOS VIOLINOS
Consuelo Aleixo Amati Daisy Singer Amti Irene Amati Sônia Amati Novais Carlo Amati Nestor M. Furtado Raquel Scherer Gilda Sartori

Ieda Gomes Leite Amália Gentil
Esperança Ribeiro Núncio Pastore Mara Gouvea Noêmia Mucker Rebeca Voigt Beatriz Nascimento
VIOLONCELOS
Eleonor Amati Rubens Peregrino Aleixo Zuleika Nogueira Rui Peregrino Aleixo João P. Gentil Euclides Pastore Otávio Mucker
CONTRABAIXOS
Jaime Peregrino Aleixo Moacyr Capanema Catulo Grassi Bernardo Amati Lucas Filinto Rios
FLAUTAS Marisa Amado Ana Lúcia Aziz
FLAUTIM Luísa Mucker Labão OBOÉS Carlos Labão Cássio Primeiro
CORNE INGLÊS Aulo Mucker
Regente: NUNO PAcelli · Spalla: clARA SPReNgeR
REQUINTA Elisa dos Anjos
CLARINETAS Laura Parente Emílio Furtado CLARONE Alberto Allende SAXOFONE Artur Temudo
FAGOTES Pedro Della Costa Turíbio Bueno CONTRAFAGOTE Jacques Ratton Pessoa
TROMPAS Paulo Amati Júlio Amati Leandro Amati
TROMBETAS

Vinícius Hypólito Augusto Peregrino Aleixo
TROMBONES Arnaldo Kepler Gregório Pontes Argemiro Nogueira TUBA Henrique Scherer
TÍMPANOS Maurício Vanderlei
PERCUSSÃO Sérvulo Nonato Maria das Dores Calado José Pedreira Ney Novais Ana Guerra HARPA Pietrina Pacelli
TECLADOS Lia Moreno Leal


Ave rara era.
A vida de Clara tramou-se em canto e drama. Sua errante ária tornada coro de prantos. Dorido solo: carpir a própria morte. E dela dragar outra Clara, toda encanto e arte.


Cada um dos últimos minutos havia sido cuidadosamente cal culado, pesado e sofrido. Para nada: aí estavam seus joelhos, trê mulos. O frio subindo do estômago em direção às orelhas, num longo arrepio. Esta forte vertigem. Encontrara o que procurava, mas deparar com a própria sepultura não é tão simples assim.
Leva a mão à testa úmida, como se, com o suor, pudesse retirar também aquela visão de pesadelo:
CLARA
* 18 - 10 - 1947
† 25 - 03 - 1948 (Outra peça do quebra-cabeça. Esta me dói como um tapa. A prova concreta do embuste. O que teria sido posto debaixo dessa laje? Onde andarão os coadjuvantes da farsa, o coveiro, o agente funerário, o tabelião? Ainda viverá a mão que assinou o óbito?)
Talvez pouco lhe adiantem as respostas a tantas incertezas, se a verdade maior e mais assustadora já foi desvendada. Compreen dia, agora, seus profundos motivos de estar ali, a quilômetros e quilômetros de sua casa, seu mundo, sua recém-conquistada segurança. Compreendia que tudo isso poderia ruir, a qualquer momento, se não tivesse partido em busca de si mesma. Assídua leitora dos textos sagrados, decorara com fervor o versículo que dizia: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” Esta libertação estava saindo cara, custava-lhe a dor de cauterizar uma ferida ainda aberta.
Examina uma vez mais a inscrição na lápide enegrecida. Repen tino vento faz tremerem os ramos da casuarina que se encosta a um dos muros, e a impressão de leve marulhar revigora sua alma. O som do mar continua sendo um calmante inexplicável. Antes de deixar o cemitério, nova descoberta ainda a per turba. É que, atrelada à mentira, viera à tona uma outra verdade: esta Clara já não existe mesmo.
– Qual o ano, dona?
– 1948. (De lá para cá muito pouca coisa deve ter mudado neste cartório. Pelo estilo dos móveis, pelo estado do prédio, o tempo passou por aqui, sim, mas não deixou progresso.)
Pior ainda. A modernidade mostrava, em Conselheiro Bar bacena, sua cara mais feia: no tráfego desordenado pelas ruas sem planejamento, na poluição de uma indústria que ia prospe rando sem inteligência, no descompasso das engrenagens admi nistrativas onde, como afinal em toda parte do país, a morosi dade, a corrupção e a incompetência viraram quase regra. Talvez para confirmá-la, ali estava uma exceção, sorrindo para Clara. O funcionário entregava-lhe pressurosamente o livro pedido, com amabilidade nada burocrática.
Sentou-se num banco de madeira, abaulado de uso, abriu no colo o enorme volume, ensebado e esfiapado como era de se prever. O indicador percorre nervosamente linha por linha até estacar, meio incerto, na página 153. De início, lê com uma avidez que impede a compreensão. Depois, mais calma, volta à primeira palavra, agora inteligível:
“Aos vinte e cinco dias do mês de março do corrente ano de mil e novecentos e quarenta e oito, faleceu, neste Municí
pio de Conselheiro Barbacena, Estado de Minas Gerais, a cidadã Clara Santa Cruz Aleixo, nascida nesta mesma localidade, aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil e novecentos e quarenta e sete, filha de Jaime Peregrino Aleixo e de dona Maria Isabel Santa Cruz Aleixo. O passamento ocorreu às 19 horas, tendo como ‘causa mortis’ disenteria bacilar, conforme atesta, a seguir, o Doutor Moacyr Capanema. O referido é verdade e dou fé.” Assinado: Sérvulo Nonato. Testemunhas: Maria das Dores Calado e José Pedreira.
Fecha o livro, aterrada com a desfaçatez de tantos. Dirige-se vagarosamente à escrivaninha do oficial, indagando-lhe:
– Quem é o escrivão aqui, atualmente?
– É o Dr. Ney. Se a senhora está querendo informações sobre aquela época, ele não vai adiantar muito não. Veio para a cidade faz poucos anos, não conhece quase nada da história de Con selheiro.
Suspira: – E com quem devo conversar então?
– Se eu fosse a senhora, ia falar, por exemplo, com Seu Oné sio, que já foi prefeito duas vezes e nasceu aqui.
Clara se reanima. Anota o endereço, agradece e já vai saindo, quando o homem não se contém:
– Moça, desculpe a curiosidade, mas a senhora diz que veio de longe pra saber sobre gente que morreu tantos anos atrás… A senhora trabalha pra polícia, ou coisa parecida?
– Coisa parecida – ecoa ela, enigmática.
Mas não sorri. Primeiro, porque não convém arriscar-se a confidências; depois, porque o tirar as últimas pedras do amon toado que escondia sua história vai se tornando um exercício penoso, nada risível.
Onésio não é pessoa de rodeios, tem senso prático, vai direto ao ponto. Isso facilitaria as coisas, não fossem elas já de si tão complicadas. Assim, com o ex-prefeito, Clara nada consegue apurar sobre os autores do registro de óbito. Por mais que esquadrinhasse a memória, ele não encontrava aquelas pessoas. Seus nomes nada lhe diziam. Lembra-se apenas do Dr. Moacyr, sujeito boêmio, um pouco demais, talvez, para a profissão que exercia. Chegara bem jovem para clinicar em Conselheiro Barbacena, fizera facilmente a clientela, mesmo porque, naquele tempo, não havia outro médico disponível por aquelas bandas. Os clientes serviam para ajudar a passar o dia, e a roda do carteado, para as noites sem horizontes do interior mineiro.
– Só jogava a dinheiro – continua Onésio, enquanto masca a ponta do charuto. – Perdia mais que ganhava. Vai daí, um dia disse que precisava ir até a capital, resolver uns negócios. Vol tou cheio da nota: lá em Belo Horizonte ele deve ter encontrado finalmente a sorte. Passou a viver melhor, gastando com roupas e mais isso, e mais aquilo. Com o tempo, o baralho foi levando tudo de volta. Ficou pobre como sempre.
– Mas que fim levou? – Clara tentava disfarçar a ansiedade.
– Acabou indo embora pra Santa Luzia. Não sei se enriqueceu outra vez, se já morreu, só sei que ficou por lá mesmo.

Indaga daqui e dali, alguém lhe sugeriu procurar uma das mais antigas moradoras do lugar. Esperança é uma dessas velhas que o tempo transforma em verdadeira passa. Por entre a malha das incontáveis rugas de seu rosto, no entanto, dois olhinhos muito vivos ainda estão atentos, revelando uma percepção aguda. Quem sabe iria lembrar-se de algum dado útil? Recebeu Clara com simpatia reservada, perscrutando, adivi nhando.
Abre a bolsa, tira uma fotografia que mostra à velhinha, per guntando:
– A senhora reconhece esta mulher? O nome dela era Isabel. Põe os óculos, contempla o retrato e responde prontamente:
– E como não havera de reconhecer? Dona Isabel era moça muito boazinha, muito recatada. Pois quando nasceu a filhinha dela, ocê precisava ver que belezura, o pai resolveu que devia fazer uma festança. Imagine só, era a primeira filha mulher que eles tinham. Ela, a dona Isabel, então me chamou para ajudar a fazer os salgados e os doces, porque eu sempre vivi disso, não sabe? Eu já fui uma doceira de mão cheia!
Clara aguarda o resto do caso. Não se dá o trabalho de provo car a outra com novas perguntas, a velhota é falante.
– O pior, minha filha, veio depois. Aquela criaturinha tão festejada, sem quê nem pra quê adoeceu e morreu em poucos meses… Foi uma tristeza que ocê não faz ideia, minha fia! Eles nem quiseram encomendar a cerimônia fúnebre não, nem veló rio, nem nada. Acho que Dona Isabel não ia aguentar o povo todo de Conselheiro visitando ela. De modo que fez foi ir pra um lugar lá da religião deles, um convento, não sei. Foi a pobrezinha passar uns tempos nesse lugar, para esquecer, buscar conforto com Deus. Depois voltou, mas preferiu mudar pra Capital. Acho que foi por causa dessas lembranças tão tristes…
(Não é muito, mas serve para confirmar certas informações. Quando nada, as peças estão se encaixando. Um dia, o desenho vai aparecer.)
Uma cidade peculiar, Santa Luzia do Rio das Velhas. Dividida em duas, a alta e a baixa, como dizem a gente e prova a topografia do lugar. Na cidade de cima é que ficam a matriz, a prefeitura, o cartório e outros prédios administrativos, além de muito casa rio colonial. E, ligando uma parte à outra, a pitoresca ponte de madeira sobre o rio das Velhas, por onde só passa um carro de cada vez. Uma ponte com ladeira e curva, que não deixam ver o outro lado.

Para saber o paradeiro do médico, escolheu o caminho mais lógico: não havia ali nenhum registro de sua morte.
Essa simples averiguação consumiu todo um dia. Na manhã seguinte, mais animada pela possibilidade de o homem estar vivo, saiu em campo inquirindo, como anteriormente, os habi tantes mais antigos. Uma informação levava a outra. A um não, seguia-se um talvez.
– Sabe, dona, hoje em dia tem muito doutor por aqui. De primeiro, não, tinha só o prático da farmácia, que resolvia nos sos problemas quase todos. Com o tempo, o pessoal mais estu dado da cidade foi tirando o seu diploma e apareceu o primeiro consultório. Era o do Cássio, filho de Seu Gregório. Tem outros agora, mas por que a senhora não fala com ele?
Cássio clinicou sozinho durante vários anos. Está agora começando a ficar grisalho. Acolhe Clara com simpatia.
– Depois que vim pra cá – explica –, apareceu em Santa Luzia o Dr. Grassi, com uma longa experiência pelo interior afora. Veio de São João Del Rei. (Será que falsificou até os próprios docu mentos? Não duvido nada.) Hoje ele está aposentado, atende só um caso ou outro, porque já tem mais de setenta anos. Tam bém não precisa de trabalhar, as despesas de velho solteirão, a senhora sabe…
Clara ia sondando o outro com jeito. Perguntas inocentes, jogadas aqui e ali – depois era puxar a rede para ver o que pes cara. Ficou sabendo, assim, que o tal Dr. Grassi, profissional dos bons, carregava apenas um pecadilho em sua biografia recente, a mania do jogo.
– Ah, isso ele não dispensa, é toda noite e pra valer. É claro que aqui não há quem possa deitar dinheiro pela janela, de modo que é só mixaria que entra no bolso dele. Ou sai. Mas se um velho não tiver um passatempo, o que vai ser de sua vida?
Ela para diante do portãozinho azul. Coração descompassado. Não pelo esforço da ladeira, que era curta. O medo da decepção. Mais a expectativa do desagradável confronto. Um de cada vez, em turnos, rói seu peito.
Atravessa o jardim. Mal viu a roseira carregada. Quase tropeça no cachorro estendido ao longo do capacho. Preguiçoso, o animal, que, pelo jeito, não tem pendor para cão de guarda, continua o cochilo enquanto ela bate palmas. Silêncio. Varejeiras esvoaçam irritantemente. Vontade de sair correndo, desistir. Mas a boca desobedece:
– Ô de casa!
Som de passos arrastados, sem pressa. Uma careca reluzente assoma à vidraça da janela. Dois olhos bravios, desconfiados, interrogam. A visitante intimida-se. Mas logo recobra a coragem e pergunta:
– Dr. Grassi?
– Eu mesmo.
O homem entreabre devagar a porta. Clara se apresenta como estudante de História. Veio do Rio, está fazendo pesquisa na região. Pode entrar? O homem hesita. (Raposa velha, hein?) Afinal, sem disfarçar a má vontade, con vida Clara a entrar, com um resmungo.
– Não sei se vou poder ajudar, adverte. Não sou daqui. Estou morando na cidade faz pouco. (Mentiroso, são mais de trinta anos!)
Enquanto fala, Clara fixa bem os olhos no rosto do velho. Não pode perder um único movimento denunciador. Percebe, pois, o retesar de todo o corpo dele, quando pigarreia e parte para o ataque frontal.
– Escuta, doutor Moacyr Capanema – diz com lentidão e fir meza bem medidas –, vamos logo ao que interessa.
– O quê… o que disse?
O transtorno é visível. Há um tremor nas mãos. Nota-se que empalideceu.
– O senhor ouviu bem. Tão bem que está assustado. Talvez em pânico. Pois é, doutor, a vida é assim. O passado nunca nos abandona de vez. A gente pensa que o enterrou bem enterrado. De repente, olha ele de volta!
Não havia ódio nem prazer nessas palavras. A fria realidade transpirava delas. O homem sentiu-lhes o peso. Passara da per plexidade ao desconcerto. Deste, à vergonha. E daí ao medo. Quem era essa que o conhecia? Retornava de algum canto escuro de sua vida? Qual?
– Não se preocupe, Dr. Capanema. Ou Dr. Grassi, já que prefere. Quero do senhor apenas a verdade. Nem mais. Nem menos. (A ccelle RANDO )
A lleg RO me STO Caminha sem ver o chão, sem saber em que rua, cidade, planeta se encontra neste momento, pois o tempo perdeu todo o significado, assim como tantas outras coisas em sua vida. Andar por que e para onde se seus passos são o pisar de uma estranha e nova pessoa, cuja direção, destino, objetivo, ignora? (Meu cabelo continua sendo escuro minha pele ainda é igual a leite como diz mamãe, aliás, quem é mesmo mamãe? sou ou fui uma garota inteligente sensível estudiosa meiga tudo o que uma mãe pode desejar de uma filha acontece que já não sei mais o que significa a palavra filha nem a palavra mãe.)
Trauteia sem perceber o costumeiro trecho de seu concerto predileto, o número três de Rachmaninov, por coincidência o allegro ma non tanto que, parece, aninhou-se em sua garganta para sempre, se é que existe mesmo para sempre. A saia de pregas levanta ao passar por um respiradouro, deixando à mostra as pernas torneadas de quase mulher, mas nem se lembra de fazer o gesto instintivo de pudor abaixando-a, porque também a vergo nha talvez não tenha mais sentido. Um velho, sentado no banco da praça que ela acaba de cruzar, observa sem cobiça aquela exibição gratuita, como se igualmente para ele tudo houvesse adquirido nova dimensão e o que antes era pecado se transfor masse agora em puro exercício estético. (Quem são aquelas pessoas dentro daquela casa que a vida inteira chamei de pai e de mãe e como vou fazer agora para chamar os dois assim e mesmo para gostar dos dois como aprendi e achei que era o único jeito de alguém gostar de pai e mãe? aquele quarto não é mais meu por sinal nem sei o que quer mesmo dizer ter possuir assim como não sei se estou viva ou se morri se isto é um pesadelo e a vida que vivia era real ou se ao contrário aquilo era o sonho bom ou mau e a verdadeira vida é esta sensação de morte de solidão de vazio.)
Na avenida Maracanã cresce o movimento nesse horário em que as pessoas vão para casa almoçar, ou já estão de volta ao trabalho no centro, e ainda há estudantes chegando para as aulas, enquanto os do turno da manhã saem em grupos, pares, ou soli tários em suas saias e calças azul-marinho e blusas de algodão branco. Embora vestida como eles, Clara não parece fazer parte dessa espécie, antes, tem o ar de um fantasma que passeia entre seres humanos com a indiferença provavelmente típica de quem já não é deste mundo. Seus olhos estão abertos, seus pés seguem automaticamente um atrás do outro, palmilhando sempre as mesmas ruas, dando voltas pelos mesmos quarteirões, como se o cérebro imprimisse ao corpo o ritmo de seus pensamentos,
desordenadas mariposas presas dentro de uma caixa escura, que se chocam contra as paredes no louco afã de encontrar a luz. (Não consigo entender por que fizeram isso comigo por que me esconderam essa história toda com certeza porque aconteceu alguma coisa muito séria e muito vergonhosa com meus pais ou talvez minha mãe fosse uma prostituta ou quem sabe eles eram tão pobres que nem podiam me criar mesmo e tive ram que me dar para outros de melhor condição mas então quem são estes dois que eu pensava que conhecia como a palma de minha mão o que foi que fizeram antes de me receber o que sentem realmente por mim se não sou do seu sangue se não nasci do seu amor ou do seu desejo?)
Força desconhecida parece nutrir o corpo quando a mente e o espírito estão entretidos a ponto de esquecê-lo, pois já passa de três horas da tarde, e ela não sente fome nem cansaço nem qual quer outra necessidade física. Às vezes, para e senta-se em algum banco ou amurada, não porque os músculos estejam reclamando da interminável caminhada e sim para pôr em ordem as ideias bruxuleantes, capturá-las em seu revoar cego e buscar o perdido ponto de equilíbrio, coisa que faz muito mais por instinto de sobrevivência do que sob o comando da razão.
O mundo racional, que apenas começara a cristalizar-se sobre esses treze anos cheios de dúvidas e angústias inexplicáveis, ameaçava agora desmanchar-se como aqueles muros que ela custava a construir na areia úmida quando sua mãe, ou melhor, aquela mulher chamada Débora a levava no domingo à praia de Copacabana para brincar debaixo da barraca, já que sol faz sar das, e ela, suando sob um chapelão de palha de abas largas, ridí culo para uma meninazinha de sete, oito anos, via a maré subir e lamber sem dó o trabalho de arquitetura de tantas horas.
Agora, as águas de uma amargura ainda desconhecida, de uma dor que nunca provara, de uma revolta que jamais experi-
mentara, acabavam de derrubar os frágeis flancos daquela segu rança existente apenas na imaginação de todos os que com ela protagonizavam tamanho drama. (Não posso voltar para lá ali não é nem nunca foi meu lugar eu bem que pressentia isso eu bem que sempre desconfiei dessas minhas unhas assim redondinhas e curvas ao passo que as dela são esquisitas daquele jeito viradas para cima curtíssimas e também o cabelo todo crespo enquanto o meu é liso e papai quer dizer aquele homem chamado Nestor moreno como ele só e eu essa brancura toda sabia que alguma coisa não estava bem contada que eles tinham segredos pra mim eu percebia como trocavam olhares quando eu perguntava por exemplo como foi que eu nasci boba de mim acreditar naquela história de ter brotado junto com margaridas se bem que acho que não vou conseguir nunca deixar de gostar delas acho que nasci foi bem no meio de espinheiros como aqueles que cobriram o castelo da Bela Adormecida e eles me tiraram de lá e me curaram dos arranhões mas não conseguiram apagar as marcas.)
O sentimento de autopiedade era a gota que faltava para fazer transbordar o dique, e Clara, como se estivesse trancada em seu quarto cor-de-rosa, deixou o choro irromper com todo ímpeto, em plena Praça Saens Peña, no coração da Tijuca. Pouco somava para os que iam passando e reparando nesse pranto perdido, alguém esboçando o gesto de aproximar-se dela, mas parando a meio caminho, provavelmente aconselhado pela lembrança da própria adolescência com suas crises típicas, suas emoções desmesuradas. (Que vontade de ver o mar agora sentir aquele cheirinho bom ver as ondas indo e vindo me fazendo virar uma sereia e escapulir lá pro fundo sem precisar saber de onde eu vim quem me abandonou quem me quis.)
Como se da plateia de um cinema assistisse ao filme da pró pria vida, Clara começou a ver desfilarem na sua tela mental
imagens aleatórias do passado, nítidas umas, nebulosas outras, justapostas às vezes, caleidoscópio que girasse a cada segundo e retivesse a cada giro um fragmento do tempo: viu-se na cozinha da casa ensolarada preparando um bolo sob o olhar severo de Dos Anjos, para logo em seguida encontrar-se na semiobscu ridade de um porão, onde o primo Emílio pinta na tela a cara do pastor Euclides, que se prepara para mergulhá-la na piscina batismal, mas surge Débora-Mamãe com uma expressão parecida com a da mater dolorosa que fica em cima da cômoda de tia Eunice e que grita “quando você veio para meus braços…”. (Chega chega não quero ouvir mais nada não quero saber de mais nada não quero ter que amar ninguém nem quero que me digam por obrigação filhinha te adoro não quero ser filhinha não quero não quero…) ( c A l ANDO )
Multidão de pardais vai se acomodando aos poucos nas amen doeiras. Os pios, quase em uníssono, são a sinfonia de todas as tardes, prenunciando a hora de recolher. Clara dobra as pernas, aconchega-se, fazendo com a saia espécie de redoma. Enlaça os joelhos, reclinando a testa sobre eles. Rachmaninov insinua-se outra vez entre seus lábios. É quase uma canção de ninar. Não sente tristeza ou paz: o peito está oco como uma árvore velha. Os pensamentos, imitando aqueles passarinhos, parece que se aquietam para dormir.
Imóvel durante muito tempo, levanta-se afinal e, pela primeira vez nesse dia infindável, dá-se conta de que está exausta, fraca, dolorida. Uma ou outra estrela já se destaca no céu lilás. Ruído de talheres, aroma de cebola refogada, nas casas por onde passa a rotina da noite começou.
Distraidamente empurra a tranca do portão, segue através dos canteiros, abre a porta. Não vê o olhar ansioso de Débora, que chega a se erguer da poltrona, mas só a meio, paralisada pela indiferença da menina. Clara sobe para o quarto e, assim como está, atira-se na cama para cair num sono tão pesado que não a deixa sentir mais nada.
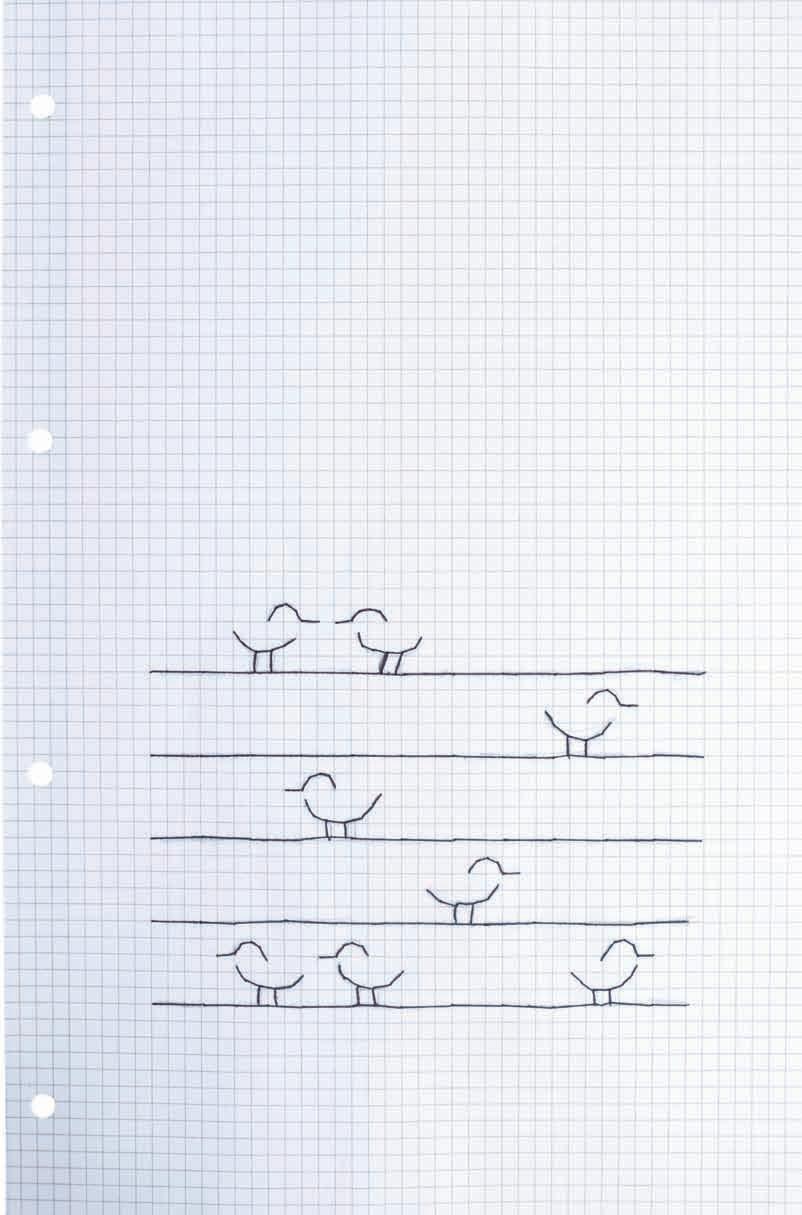


Cresce assim em viço e graça como se bênção fosse e não desgraça tal segurança em tamanha farsa.



Sempre que as cortinas se fechavam pela última vez, sua von tade era uma só: cair sentada ali mesmo, em pleno palco, não sem antes agradecer a Deus por ter chegado ao fim com tantos aplausos. Emagreço quase dois quilos por apresentação, costumava dizer, entre queixosa e alegre, pois manter-se em forma sendo louca por doces sempre constituiu um grande sacrifício.
Dessa vez, porém, a sensação é diferente. Quarenta anos de idade, vinte de carreira – como passara depressa e, ao mesmo tempo, quanto exigira dela!
– Clara, por favor, não demore. Esqueceu que o repórter está esperando você no camarim?
(Sempre assim não se pode nem digerir as emoções direito… Meu Deus foi um triunfo!)
– Você esteve simplesmente gloriosa!
Gilda Sartori, à frente de um grupo numeroso de amigos e fãs, vem abraçá-la nos bastidores. Vestida ainda com os trajes de Mimi, a madrinha veterana sorri orgulhosa para a afilhada e volta à carga:
– Simplesmente soberba, minha filha! Isso é que é comemo ração, hein? De minha parte, considero-me premiada hoje. E você, querida, feliz também?
As lágrimas que afinal descem dos olhos de Clara são elo quentes o bastante. Esta era, quem sabe, a centésima vez que cantava em “La Bohème”. Com a diferença que fazia agora o papel em que sua amiga e protetora havia estreado, quatro décadas antes. Ambas coroavam com êxito anos e anos de trabalho diário, de disciplina e vigilância para que seu instrumento – belas vozes de soprano lírico – jamais falhasse. Invertiam-se hoje as posições, a grande dama praticamente despedindo-se da cena e a mais moça, firmando seu nome entre os melhores do
canto brasileiro. O real significado dessa conquista, entretanto, muito poucos daqueles que ali estavam, à sua volta, poderiam compreender e partilhar.
À saída do Municipal, o séquito fiel de colegas e amigos a aguarda. Lá estão Toríbio, Pedrinho, Ieda, Marisa, Lucas, sua filha Ruth e o genro, Carlos.
Alguém se aproxima da roda que se formou em torno dela, perto das escadarias: um rapaz alto e provavelmente míope, mas que a encara com olhar muito firme por trás dos óculos bem redondos. Seu aspecto frágil é comovente. Estende a mão e, numa voz aveludada e grave:
– Clara, com licença, queria cumprimentá-la pessoalmente. Vinícius, muito prazer. Meus parabéns, você esteve maravilhosa, como sempre.
– Como sempre?
– Acompanho seus passos praticamente desde que começou na carreira – explica o moço. – Eu moro em Belo Horizonte, você raramente se apresenta lá. Sou seu admirador ardoroso. Tenho todos os discos que gravou. Sempre que pude, assisti a todos os seus espetáculos. Recorto depois as críticas, coleciono. Sua voz me emociona muito. Não existe outra igual neste país.
Engraçado, essa confissão apaixonada não soava falsa. Pelo contrário, o modo como falara, os gestos que acompanharam cada palavra, tudo possuía o encanto da sinceridade.
– Muito obrigada, fico muito feliz de saber que tenho um fã tão fiel.
A frase poderia parecer banal, mas Clara, bem no fundo, adivinhava estar diante de uma pessoa diferente, alguém cuja sensi bilidade encontrara eco na sua.
Os dois ainda estão se medindo com os olhos quando Pedri nho, em sua habitual expansividade, solta o vozeirão de barítono:
– Bom, gente, vamos tratar do corpo porque a alma já está perdida mesmo. Todos para o La Molle?
Clara percebe a hesitação de Vinícius. Por amabilidade ou por simpatia, convida:
– Vem conosco também.
O outro não se faz de rogado.
Ruth estivera observando a mãe disfarçadamente, como sempre fazia. Como sempre, também, de nada adiantara o disfarce, pois Clara e a filha comunicam-se a tal ponto que pouca coisa escapa de uma à outra. Principalmente a Ruth, dona de uma inata perspicácia.
– Gosto de treinar com você – costuma brincar. Mas Clara sabe que a filha a considera uma pessoa vulnerável e imatura, muito necessitada, portanto, de seus cuidados.
Vê, então, com bons olhos a nascente amizade entre a mãe e esse rapaz com nome romano, que só para de conversar quando um pedaço de pizza vai à boca.
– É evidente que houve um encontro muito especial hoje... –segreda Ruth ao marido.
Os dois trocam uma piscadela maliciosa que, logicamente, não passa despercebida a Clara. “Vocês vão ver!”, fuzila com os olhos também.
Viram, sim. Viram o amor nascer, madurar, florir entre aque les dois. Clara, a planta de estufa, que uma simples brisa podia
dobrar, uma aragem mais forte machucar. Requeria trato apro priado. Vinícius, não menos que ela propenso à emoção e ao sentimento, possuía, no entanto, um espírito tão determinado que conseguia deixá-los em segundo plano, sempre que os argu mentos da razão se faziam prementes. Então, sabia ser quase inflexível.
Uma alquimia promissora resultou dessa combinação. Por ser músico, ele não ignorava as exigências imperiosas da pro fissão de Clara. Ela, por sua vez, realizava agora o sonho de estar ao lado de um instrumentista, ideal que acalentava desde muito pequenina quando, da varanda de sua casa, viu passar um homem com sua caixa de violino.
Pois ali estava um violinista em carne e osso e, o mais importante, apaixonado por ela. Que mais poderia pedir aos céus?
Pediu que surgisse a possibilidade de uma transferência de Vinícius para a orquestra do teatro. Os encontros de fim de semana tinham se tornado insuficientes. Preso cada qual a sua atividade, não havia como aumentar o tempo que passavam jun tos. Só mesmo os céus poderiam propiciar a solução.
– Alô? Clara? Comece a preparar as malas, moça, semana que vem vamos partir.
– Como assim, vamos partir? Os espetáculos estão confirmados? Em que capitais?
Não podia ouvir falar em viagens e já começava a sentir calafrios, dor de estômago, cabeça pesada. Organizar-se para as excursões fora sempre o seu martírio.
O empresário informava-a agora de que já havia assinado os contratos, os cachês seriam bem altos para os padrões nacio nais, sem contar a óbvia projeção para o elenco do Municipal. A
turnê incluía Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus. Quase um mês atravessando o Brasil para apresentar a mesma encenação de “La Bohème” que tanto sucesso fizera na última temporada carioca. Dessa vez, Clara faria os dois papéis principais, Mimi e Musetta, alternadamente, o que lhe permitiria mostrar, através de personagens tão diver sas, todos os seus recursos de atriz e cantora.
As perspectivas eram, pois, animadoras, principalmente por que o roteiro incluía Belo Horizonte e, ao escutar o nome da cidade, uma chama se acendera dentro dela.
Mas o “pânico da mala”, como costuma defini-lo, volta, anulando todas as vantagens. Vai até o armário, escancara-o e senta-se na cama, acabrunhada pelo problema da escolha. Uma por uma vai analisando cada roupa, sua serventia, sua finalidade. Começa a rir nervosamente. (Mamãe teria um desgosto tão grande se tivesse que arrumar essas minhas malas! Ela que adorava babados e frufrus, que me trazia enfeitada como uma boneca, se agora tivesse que escolher entre os meus trapos…)
Recordar-se de Débora, há dez anos morta, é sempre pun gente. Misto de saudade e de remorso. (Meu Deus, por que fui sair tão diferente da encomenda? Essa questão de vestir. Acho que eu só passei a gostar de uma roupa informal, dos tamancos, do algodão manchado, para contrariá-la, para rebelar-me. Sou relaxada, desorganizada, não fosse a minha carreira, provavelmente estaria hoje na Califórnia ou em Londres, bem integrada nalguma comunidade maluca, remanescente dos hippies.)
Já que é impossível resolver de imediato a questão da baga gem, Clara fecha o armário e resolve comer alguma coisa. Estu dara a tarde inteira, merecia um descanso. Abre a geladeira, pen sando em como é fácil viver sozinha, do ponto de vista domés tico. Qualquer coisa lhe servia de alimento. Por exemplo, aquela
colherada de feijão frio sobre uma bolacha de água e sal, uma rodela de cebola, catchup e café com leite para acompanhar, poderia haver iguaria melhor?
Come gulosamente, enquanto vai pesando as desvantagens de sua vida, depois que perdera o primeiro marido. Ruth casa ra-se bem cedo – espécie de tradição, ou sina, das mulheres da família –, e ela, havia um bom tempo tinha por companhia ape nas Ágata, o jabuti, Florêncio, o gato, e, quando dava sorte, uma empregada. A penúltima levara-lhe um vestido de seda, peça raríssima de seu guarda-roupa, e um prendedor de gravata, em ouro, com uma pérola, que pertencera ao professor Pacelli. Arrasada por se ver privada de um objeto tão caro ao seu coração, decidira nunca mais empregar ninguém. Esse propósito durou até o dia em que nasceu o primeiro neto, e Ruth viu-se obrigada a deixá-lo frequentemente com a mãe, para não faltar ao consul tório. Clara também tinha os seus horários apertados – afinal, não passava de uma simples funcionária pública, cujo trabalho no coro do teatro era regulado por livro de ponto. Querendo aju dar a filha, quebrou o propósito. Uma neta viera, dois anos atrás, e felizmente Lia, fiel e boa, já estava trabalhando ali.
Do ponto de vista afetivo, porém, uma grande lacuna abriu-se na vida de Clara com a viuvez. Ela, que sempre preferira a solidão, que, muito pequena ainda, gostava de isolar-se para ouvir música erudita, sabia agora que essa tendência fora provocada por circunstâncias especiais de sua história. Havia sido apenas um recurso de sobrevivência.
(R A lle NTANDO )
A pergunta de Vinícius, na primeira vez em que puderam ficar sós, em seu apartamento, não deixou de ser uma surpresa. Há algum tempo vinha notando as mudanças interiores, um novo interesse pela vida, uma ansiedade desconhecida quando o telefone tocava, o prazer de escutar a voz dele. Ia penetrando aos poucos num território de luzes e sombras, mas… amor? Ainda não encarara a palavra com todas as suas letras.
Mais tarde, depois de horas de mútuas confidências e revelações, quando ele não teve outros meios de expressar o que sentia senão abraçá-la, beijá-la e, com uma urgência assombrosa e uma calma infinita, entregar-se e fruí-la, só então soube a resposta e tratou de sussurrá-la: – Eu te amo, sim.
(S TR i N ge NDO )

Ao pisar o palco do Municipal, nesta noite, Clara é presa de forte emoção. A princípio, não descobre o motivo. A sensação do já vivido, muito familiar a ela, começa a envolvê-la. Impressão que perdura até o momento em que se recorda de outra estreia, no mesmo teatro, na mesma São Paulo, há quase vinte anos.
Naquele dia, jovem, mas já segura, cantaria a Carmen. Tudo saíra perfeito durante o primeiro ato. Sua atuação fora correta, a voz fluíra límpida, como comprovaria a torrente de aplausos finais. Tinha revelado, uma vez mais, seu talento dramático, dominando o público não apenas pelo canto mas também pela presença cênica.
No intervalo, esperava por ela no camarim a última pessoa que esperaria pensaria ali: o pastor Núncio, com insuspeitada missão.
– Boa noite, filha, parabéns, você está cantando cada vez melhor.
– Mas o senhor já me ouviu antes? Quando?
– Pela televisão, algumas vezes. Você não canta naquele pro grama dos domingos? Também tenho sempre notícias de sua carreira lá no Rio de Janeiro.
Clara ia ficando curiosa.
– Então o senhor aproveitou a oportunidade e veio me ouvir hoje. Quem costuma dar notícias minhas ao senhor?
– Bem, minha menina, não vou ter muito tempo para explicar tudo. Em suma: a razão de estar aqui hoje é que me incumbiram de promover um encontro. Na plateia estão quatro pessoas que desejam muito conversar com você, conhecê-la mais de perto. Vieram para isso.
– E quem são essas pessoas?
– São seus irmãos, por parte de pai.
Clara tentava se recompor para voltar à cena, mas só conse guia se sentir mais e mais agitada. Torcia as mãos, ia e vinha pelo camarim, bebia um gole de água, procurava pensar no texto da próxima ária, e lhe vinha à mente a passagem bíblica que sem pre a intrigou: “os impossíveis dos homens são sempre possíveis para Deus”.
Considerando que seria a providência divina quem armava esse encontro com seu passado, entrou no palco. Cantou como nunca tinha feito, enquanto buscava na plateia os rostos que provavelmente se assemelhavam ao seu, magnetizada por aque les quatro pares de olhos e ouvidos que estariam se impregnando dela e com ela compartilhando a mesma grande emoção.
A lleg RO m O lTO
– Bravo! Bravo! Bravo, Clara! – O público delira.
– É uma garganta de ouro!
– Uma iluminada!
– Magnífica!
– Não é o corpo que canta, é o espírito!
Curvada sobre si mesma há vários minutos, abre as comportas: poucos percebem que chora perdidamente enquanto agradece.
Com a maquilagem descendo pelo rosto, corre para o camarim, aos soluços. Afogam-na de beijos, abraços, flores, flashes, palavras.
Tudo gira, ciranda de rostos e sons e cores e formas. O mundo transformara-se num turbilhão.
Por fim, restam duas mulheres e dois homens no corredor. Os cinco se contemplam, paralisados. Finalmente, um deles, aquele que logo depois se identificará como Paulo, quebra o silêncio:
– É preciso dizer quem somos?
A resposta de Clara será abrir os braços para eles.
O encontro – batizado por seus protagonistas de “reencon tro” – prosseguiu noite adentro, numa cantina sossegada de Per dizes onde puderam, enfim, começar a se conhecer.
– Você é idêntica ao Leandro, pena que ele não esteja aqui para a gente comparar. Os mesmos olhos, a mesma boca, o tom da pele, do cabelo… é impressionante! – Sônia usava a oportunidade para recuperar o longo atraso.
– É engraçado – observa Clara – porque somos filhos do mesmo pai, apenas. As mães são outras.
– Ah, mas essa questão de hereditariedade é complicada –interfere Irene. – Pra mim, é um verdadeiro mistério.
– E a risada dela, vocês repararam? – pergunta Júlio, o mais velho, que desde o primeiro momento se impressionara com as “coincidências”. É o mesmo que ver o papai rindo!
A referência ao pai instiga Clara:
– Onde ele mora atualmente? Vocês convivem com ele?
Ela sabia que Bernardo, depois de anos radicado na Alema nha, voltara para o Brasil. Naquela noite, porém, será ela o cen tro das atenções. Todos os irmãos querendo saber de viva voz aquilo que, a distância, anos a fio, tinham ouvido a seu respeito, de membros da igreja em São Paulo e no Rio.
Para sua sorte, a religião adventista forma uma comunidade muito coesa, e essa união extrapola o terreno da simples crença, do convívio ritual, para abranger também o social. Os mais abas tados ajudam os menos favorecidos e, dos problemas de cada família, participam, solidários, o pastor e os demais membros.
Desse modo, a vida de Clara não era segredo para sua verdadeira família, que de longe acompanhava seus passos. Foi através dessa rede de informantes que souberam chegado o momento
do encontro: Clara já era dona de toda a verdade, estava pronta para receber seus irmãos.
– Minha mãe, vocês a conhecem? Conhecem os outros filhos dela?
– Temos uma ou outra notícia deles. Eu, por ser o mais velho, ainda me lembro de dona Isabel – Júlio calou-se, refletindo. – Pensando bem, acho que você se parece com ela também, Clara. O cabelo é diferente, pois sua mãe é loura, mas os traços… tal vez o jeito… Não sei, são parecidas sim. Pelo menos nas minhas recordações. Que coisa mais curiosa a genética, não?
Estavam todos pensativos agora.
Mas Irene não quer perder nem um precioso minuto:
– Como você é de gênio, Clara? Está me parecendo que tem um pouco da veia cômica do nosso pai. Estou certa?
Clara ri, concordando em parte:
– A tal veia não funciona muito no dia a dia não, sabe? Na vida real, tenho mais tendência para a melancolia, gosto de ficar quieta no meu canto. Mas, no palco, eu me transformo completamente. Acho que até fico mais à vontade na comédia do que na tragédia ou no drama… A verdade é que o público gosta, ri muito. E eu me divirto mais que todos.
Uma Clara mais consistente ia se delineando para os quatro, aos poucos. E eles? Haviam sofrido muito na infância, quando o pai os deixara, e a mãe teve que se desdobrar para criá-los. Sim, aquele começo fora difícil, principalmente para Leandro e Irene, de temperamento muito sensível. A mudança para São Paulo, a adaptação à vida da metrópole, tudo havia sido muito penoso. Mas sobreviveram com razoável dose de sucesso e sanidade. Júlio era advogado, casara-se, tinha três filhos. Paulo, publicitário, estava noivo, pois só se decidira pelo casamento agora, “depois de velho”, como dizia. Irene, mais introspectiva, ficara solteira e
morava com Eleonor, a mãe. Sônia também se casara, era mãe de um casal de gêmeos, médica e estudante de sociologia. Considera vam-na a intelectual da casa. Leandro, que só chegaria a São Paulo no dia seguinte, estava em Curitiba, participando de uma exposi ção – era o caçula e também o único artista da família, desde que o pai partira para a Alemanha com seu trompete.
(R A lle NTANDO)
Todas essas lembranças passam pela mente de Clara, sentada em seu camarim, vinte anos mais tarde.
Recorda-se, agora, do encontro com seu irmão mais novo, ainda naquela temporada paulistana. Fora uma experiência única para os dois: como se vissem a própria imagem refletida num espelho, tal a semelhança. Passada a forte emoção inicial, descobriram que possuíam muito mais em comum, a começar pela arte. Também ele havia sido uma criança tristonha e medi tativa, também ela se ressentira da falta de um pai cuja energia lhe infundisse segurança, cuja autoridade lhe servisse de guia.
– Mas a vida nunca sai do jeito que sonhamos, não é, Clarinha?
Esse terno diminutivo ainda ressoa hoje em seus ouvidos, como música. Ouvira-o desde a infância e ainda o ouvia, de um ou outro amigo. Na boca do irmão tornava-se diferente.
E seria ele quem, alguns meses depois, lhe faria uma grande surpresa.
(A ccelle RANDO )
– Clara – disse Leandro do outro lado da linha – acabo de che gar de São Paulo e trouxe comigo alguém que quer ver você com a maior urgência. Podemos ir agora?
Mal se aguentou durante aqueles longos minutos enquanto esperava a campainha tocar. Quando abriu a porta, Leandro sur giu primeiro, abraçou-a e beijou-a efusivamente. Depois, virou -se para apresentar-lhe uma moça de seus trinta anos, loura, olhos azuis, sorriso doce.
– Clara, esta aqui é a Consuelo. Sua irmã. Espanto e emoção surgiram nos olhos de Clara: – Minha ir-mã?!
E enfatizava a palavra, como se duvidasse. A outra, comovidíssima também, balbuciou: – Sua irmã, sim, Clara. Sou filha de Isabel. Sabia muito pouco da família da mãe. Débora, em seus doen tios ciúmes, falara o mínimo possível a respeito deles, e Clara, por motivos que ainda não havia compreendido bem, não con seguia insistir.
De seu lado, Consuelo vivera uma experiência muito parecida. Nunca lhe haviam dito nada sobre o passado da mãe, pois um juramento de silêncio fora feito entre os poucos que o conheciam. Tudo havia sido ocultado dessa última filha, que nasceu quando Clara já estava bem longe, no espaço e no tempo. Do círculo de pessoas que conheciam o segredo, certamente fazia parte Ana, colega de escola de Consuelo, que acabou não resistindo: – Sabe que você tem uma irmã, Con?
– O quê?
E pensou imediatamente no pai, alguma aventura, alguma escapulida… Achou até empolgante. Mas a outra tratou de escla recer logo: – Não, é filha de sua mãe.
A partir daí não mais tirou do pensamento a firme ideia de conhecer a irmã. Era ainda adolescente. Agora, a oportunidade
chegara. Como sempre, foram os amigos adventistas que trou xeram as boas novas: lá em São Paulo, os filhos de Bernardo tinham procurado Clara, que os recebera com a maior alegria. O caminho estava aberto. Restava pedir a um deles que a levasse também até ela.
Ali estavam, portanto, as duas, frente a frente, desconhe cidas e, desde o primeiro minuto, velhas amigas. A simpatia mútua tinha sido instantânea. A descoberta de afinidades, muito rápida. Em pouco tempo, sentiam-se como se tivessem convivido sempre.
Consuelo, nesse primeiro contato, ficara impressionada: – Você tem tanta coisa da mamãe! Não são propriamente os traços. O tipo dela também é diferente, mas esse seu modo de inclinar a cabeça enquanto fala, alguns gestos, alguns ares… É o conjunto, sabe? E pensar que vocês nunca estiveram juntas, nem por um minuto! ( c A l ANDO )
A NDANT e e SPR e SS iv O
– Mãe, por que você nunca me contou que eu tenho uma irmã?
O tom da pergunta não dá margem a subterfúgios. Isabel, embaraçadíssima, evita o olhar da filha. Era um assunto que pre feria enterrar de vez, causava-lhe mal-estar físico.
Mesmo percebendo a perturbação da mãe, Consuelo insiste:
– Por favor, mãe, eu preciso saber. Afinal de contas, ela não é minha irmã? Pode me contar tudo, garanto que vou entender.
Isso era verdade. As duas tinham um relacionamento muito fácil, sem atritos, mesmo agora que Consuelo atravessava a “idade crítica”. Portanto, nada justificava estragá-lo com uma desconfiança.
Armou-se de coragem e relatou à menina sua história. À medida que narrava – a princípio tensa e dosando cada palavra, depois impulsionada pela emoção – Isabel parecia avaliar pela primeira vez toda a dimensão da tragédia.
Terminou chorando, como naquela inesquecível manhã de março, trinta anos antes, quando a irmã Rebeca fora buscar a criança. A mãe julgara estar preparada para esse momento, mas ver sua filha saindo de casa para nunca voltar era demais.
– Foi como se me amputassem um braço ou uma perna! Nin guém pode calcular a dor – desabafou em soluços.
A filha caçula também chorava agora, abraçada a Isabel. Refeita, indagou:
– Você não teve mais notícias dela?
– Tenho, de vez em quando, através de Rebeca ou alguma outra pessoa da igreja, quando vão ao Rio. Sei que ela está muito bem cuidada, que é muito bonita, inteligente… Nova onda de lágrimas sufocou-lhe a voz.
Consuelo esperou, antes de prosseguir deslindando o que mais a intrigava.
– Você não tem vontade de quebrar a promessa e ir lá se encontrar com Clara, mãe?
– Vontade eu tenho muita, filha, mas não posso por vários motivos. Primeiro porque isso magoaria muito seu pai e…
A menina não se conteve:
– Mas ele também fez você sofrer, mamãe!
– No princípio eu pensava assim e me considerava uma vítima dele. Senti revolta, contra ele, contra todos. Cheguei a pensar que ia enlouquecer. Isso quase aconteceu mesmo, quem me salvou foi o pastor Aloísio. Pediu aos irmãos de um Instituto Adventista, perto de Conselheiro Barbacena, que me recebessem
por uns tempos, até eu melhorar. Com a ajuda de Deus, consegui vencer aquele desânimo e também o desprezo que tinha passado a sentir pelos homens. Nunca fiquei curada de todo, sabe, filha? Quer dizer, da saudade, da perda de Clara.
– Ah, pois eu ainda acho que você não deve pensar desse jeito. Se ela está viva, como pode falar que perdeu?
– É isso que estou querendo explicar a você, Consuelo. Não posso romper o trato com seu pai, nem com o outro casal. E se eu, procurando Clara, só for causar mais sofrimento? Não é justo com eles, com ela e até comigo mesma. Prefiro não ter esperanças.
Consuelo passou muitos dias e noites digerindo a conversa com a mãe. Por mais que Isabel tentasse convencê-la de que Jaime também tivera justas razões, seu sentimento pelo pai mudou, desde aquele dia.
Quando, anos mais tarde, Jaime adoeceu, algo deve ter-se modificado dentro dele. Um dia, já no fim, falou a Rubens:
– Gostaria de poder explicar-me com sua irmã…
O rapaz não entendeu:
– Quer que eu chame Consuelo agora?
– Não, ela não, meu filho, estou falando de Clara. Rubens estava surpreso. Àquela altura, eles já se haviam aproximado dela, somente Isabel ainda não a vira. Não pensava, entretanto, que seu pai estivesse ciente desses contatos.
– Você está admirado, não é? Eu sei, sei de tudo. Tenho pena da sua mãe, ela deve estar louca para rever a filha… Agora falava para si mesmo, o olhar voltado para a janela, perdido numa paisagem inexistente – de sua cama só divisava o céu.

– Nem eu mesmo sei. Hoje estou começando a ver tudo aquilo de um modo diferente. Acho que não tem mais sentido eu… Adormeceu, esgotado pelo esforço, sem concluir a frase que poderia trazer alívio a sua família. Clara, porém, soube, pelos irmãos, daquela tardia intenção. De certo modo, o esboço de um pedido de desculpas atenuou em seu íntimo a imagem de intran sigente – uma entre as muitas que criara para esse homem. (A ccelle RANDO )
O encontro com Rubens, Rui e Augusto, filhos de Jaime e Isa bel, não foi menos emocionante. Embora os três tivessem saído ao pai fisicamente, herdaram da mãe certa brandura de trato que logo cativou a meia-irmã.
– Você é tão linda! – foi prontamente dizendo o mais novo e também o mais expansivo.
Augusto, ainda solteiro, cursava o último ano de engenha ria. Os gêmeos possuíam temperamentos opostos. Enquanto Rubens, com uma bonomia quase exasperante, encarava a vida sem muitas ambições, Rui era do tipo ansioso, impaciente. Um se conformava com ser simples comerciante de produtos gran jeiros em Belo Horizonte. O outro parecia querer açambarcar o mundo com seus três diplomas de curso superior. De fato, isso começava a acontecer agora, quando se preparava para assumir um emprego promissor no Canadá.
Dele partiu o maior gesto de carinho pela irmã: sua primeira filha recebeu o nome de Clara.
Consuelo era dona de uma personalidade sensível e, ao mesmo tempo, prática. Acabou voltando-se para o campo que sempre a fascinara e onde poderia expandir esses dotes, a logopedia. Nenhum deles realizou o velho sonho de Isabel – ter um músico na família – exceto aquela que, se brilhou nessa arte, não chegou a ser filha em sentido pleno.
– Feliz Dia das Mães! Rubens entrega a Isabel um pequeno embrulho, chato e quadrado. Ela abraça o filho, agradecida. Com curiosidade moderada, abre o pacote. Era um disco, dedicado à data. Na capa, a cantora: olhos castanhos grandes, expressivos. Pele alva. Bela cabeleira escura. Um rosto atraente, sensual. O nome: Clara Sprenger.
Ao adivinhar quem era aquela, Isabel empalidece. Senta-se. Contempla, muda, a foto na contracapa. Depois, pede a Rubens que ligue a vitrola. O som de uma voz límpida enche de alma a sala.
Lágrimas chegam, silenciosas. Não são as primeiras. Nem serão as últimas. (Então esta é ela… como demorou, minha filha… será que posso chamá-la assim?)
Rubens já duvida se fez um bem ou um mal. Isabel percebe. Toma suas mãos, tranquiliza-o:
– Obrigada, filho, você não poderia me ter dado presente melhor. (R A lle NTANDO )
T RAN q U ill O
Agora, ela entra em sua casa todas as semanas. Uma Clara viva, vibrante, pura arte. Todos os domingos, de manhã, Isabel repete o ritual: prepara o café com leite, senta-se em frente à TV e espera com ansiedade quase infantil o começo do programa. (Está começando bem a carreira, afinal de contas, mal completou vinte anos. Como canta bonito, que interpretação tem! Se ela soubesse o quanto estou perto dela, como gosto de vê-la, que vontade tenho de tocá-la! Mas já é muito mais do que eu esperava ter um dia, poder acompanhar seu sucesso daqui de longe…)
O solilóquio, sempre o mesmo, é interrompido num desses domingos por Consuelo:
– Mãe, a senhora gostaria de se encontrar com a Clara?
Apanhada de surpresa, Isabel duvida:
– Ela quer também?
Sabia que a filha ainda não se decidira a procurá-la por uma questão de consciência. Para Clara, era como se traísse Débora.
– Não sei, mas posso tentar – responde Consuelo. – Na próxima vez que for ao Rio vou ver se consigo convencê-la.
– Mas não force, filha, eu não me sentiria bem.
Os transparentes e tristes olhos de Isabel ficam marejados. Jamais se acostumaria com essa situação.
Foi preciso que Débora morresse para o encontro acontecer. Entre curiosa e apreensiva, Clara comprou a passagem e, numa fria e seca tarde de junho, desembarcou na Praça da Estação, em Belo Horizonte.
A viagem de trem dera-lhe tempo de sobra para preparar-se. Viera pensando em tudo o que sabia sobre a mãe verdadeira, procurando alcançar a dimensão do drama em que ela, como Clara, tinham sido vítimas.
Nesse estado de espírito desceu do táxi, numa sossegada rua do bairro Santo Antônio. Os muros baixos com portão de madeira, a casa pintada de rosa claro, os jardins bem cuidados, tudo isso transportou-a de volta à infância com Débora. Por alguns segundos, o remorso tentou dissuadi-la. (Não. Vou até o fim. Não devo nada a ninguém, não tenho culpa de as coisas serem assim e tenho o direito de fazer isto. Se tenho!) Apertou a campainha.
Isabel mesma veio abrir a porta. Sabia da vinda de Clara, mas não o dia nem a hora. Ela, que pensava conhecê-la tão bem, tinha diante de si uma mulher que a encarava com a frieza dos estranhos.
– Clara?!
– Isabel?
Chamou-a assim pelo resto da vida. Jamais conseguiu tratá-la de “mamãe”, como tanto desejava a outra. A fidelidade a Débora e o convívio limitado acabaram impedindo-a de experimentar por Isabel outros sentimentos que não a piedade, a compreensão e, felizmente para a outra, um pouco de afeto. O afeto de uma amiga, nunca o de uma filha.
Voltou a ver a mãe diversas vezes. Visitava-a e recebia sua visita, era cumulada de carinhos e gentilezas, deixava-se amar, embora, muitas vezes, o olhar fixo de Isabel a desconcertasse.

Certo dia, sentiu que a mãe passara a mão de leve em seus cabelos. Enrijeceu o corpo, sem querer. A outra deve ter captado a tensão, vacilou um pouco, mas prosseguiu, dizendo:
– Gostaria tanto que você me perdoasse…
– Eu não tenho o que perdoar. Sou feliz. Tive uma vida feliz, cercada de amor. Nada me faltou.
– Mas eu gostaria, mesmo assim… ( c ON SORD i NO )
A lleg RO
Aquelas palavras doloridas ainda ressoam em sua memória. Clara fecha a torneira, abre a porta do box e começa a se enxugar. O telefone toca. (Parece coisa de cinema. A clássica chamada no meio do banho. A atriz sai pingando água tapete afora, etc, etc. Eu já assisti a esse filme antes...)
– Alô. Vinícius? Oi, querido! Claro, estou esperando. Pode subir.
Ao abrir a porta, dá com o namorado posando de garçom, bandeja de café sobre o braço e, na outra mão, um jornal. Ela o folheia sem sofreguidão, procurando a matéria que estava pro gramada para sair na primeira página do caderno de cultura.
“Não é à toa que Clara Sprenger vem sendo considerada a mais perfeita cantora lírica do Brasil. Sua voz, nesses vinte anos de amadurecimento, tornou-se um vinho que se bebe enlevado, apreciando cada mínima nuance de seu buquê inigualável.”
Clara pousa o jornal no colo e sorri, pensando no que diria aquele crítico arrebatado se a conhecesse na intimidade. (Qual vinho nada. Um osso duro de roer, é isso que eu sou.) Em voz alta, porém, não se subestima tanto:
– Você precisa ver o que saiu aqui.
Passa o jornal a Vinícius, sentado diante dela, sondando-a com o olhar.
– A favor ou contra? – brinca ele, antes de ler.
Clara chegara a Belo Horizonte havia três dias, trazendo na bagagem recortes e mais recortes que bem traduziam o êxito das apresentações anteriores. Achava graça nas imagens, às vezes poéticas, que alguns entendidos escolhiam para quali ficá-la. Àquela altura da carreira, com tantos prêmios ganhos, tantas excursões dentro e fora do país, tantas entrevistas conce didas, talvez fosse o momento de comportar-se como uma diva. Não ela. Acostumara-se, sem dúvida, ao sucesso. Mas nunca perdera aquela simplicidade que a fazia ter gostos comuns, poucas exigências e nenhuma ambição. Talvez apenas a de viver em paz.
É exatamente isso que sente, ali, nesse quarto de hotel, partilhando com o homem que ama os minutos prosaicos de um café da manhã. Daqui a pouco, Pedrinho baterá na porta escandalo samente para avisá-la que é bom ir-se aprontando para o ensaio; daqui a pouco, o telefone tocará e, do outro lado, Ruth dirá que o médico confirmou: Daniel está mesmo com sarampo; daqui a pouco, de um modo ou de outro, a realidade entrará no quarto satisfeita por poder quebrar o encantamento de agora. Entre tanto, tudo isso acontecerá daqui a pouco.
– Sshhh… Anda, Dos Anjos, vem…
Pé ante pé, as duas deixam o quarto onde o bebê afinal res sona, cansado de chorar.
– Ufa! – exclama Débora quando chegam à cozinha. Não sei por que essa menina é assim.
– Os vizinhos já até repararam. Eles me perguntam na rua se ela é doente. Eu explico que não, que tem saúde pra dar e vender, que a senhora é muito zelosa, essas coisas.
– E eles? – pergunta a patroa, soturna.
– Falam que já não estão mais aguentando esse berreiro noite e dia. Que dá pra enlouquecer qualquer um.
– Ainda bem que eu conto com você, Dos Anjos, que é boa e compreensiva. Senão, não sei como daria conta. Mas o que é que eu posso fazer? Já levei ao médico, disse que ela não tem problema nenhum. Já tentei de tudo. O jeito é esperar que isso passe. Tem de passar.
O céu foi ficando escuro de repente. Daí a pouco, explodiu um raio que pareceu ter rachado a Terra ao meio. Trovões. Agua ceiro começa a despencar. Clara levanta-se de um salto, largando livros e cadernos.
– Oba, uma tempestade!
E corre para o quarto de brinquedos. Da estante repleta de bonecas tira depressa uma, vestida com camisola de cetim azul -claro. Envolve-a no primeiro pano que encontra, a toalha de rosto. Já no meio da sala lembra-se de qualquer coisa, volta cor rendo e traz uma sombrinha cinza com flores cor-de-rosa. Sai para o quintal de guarda-chuva aberto e ali permanece até que caiam os últimos pingos: abraçada com sua boneca, protegendo-a daquele horrível vendaval…
– Menina esquisita essa… - murmura Dos Anjos, que tudo presenciara da janela da cozinha. – Na hora de brincar com as bonecas que o pai traz das viagens, nem quer saber. Não liga pra elas nunca, são as primas que brincam. Mas é só chover, e ela tá lá fora, agarrada com a boneca. Quem que entende isso?
Débora também assistiu à cena, de seu quarto. Fecha nova mente a cortina, pensativa. Como interpretar aquilo?

– Mamãe, a senhora deixa eu brincar na casa da Elisa? Só um pouquinho, deixa?
– De jeito nenhum. Não acho que lá é um bom lugar para você ir. E, além do mais, nós vamos sair hoje.
– E aonde que nós vamos? – pergunta Clara, conformada.
– Fazer umas compras. E também visitar dona Eunice.
– Quantos bolinhos eu posso comer lá?
– Que menina mais gulosa! Você só pensa em comer, hein? Pois nem sei se ela vai oferecer nada, porque não avisei que íamos lá. Se oferecer, aceite só dois. Três, no máximo, se insis tirem muito.
– Mas, e se o bolinho for daqueles pequenos?
– Mesmo assim. Uma menina educada nunca come demais. Principalmente na casa dos outros. É feio.
– Mãe, que vestido eu ponho?
– Aquele que ficou pronto na semana passada.
– O de flores cor-de-rosa que eu escolhi a fazenda?
Já seria um consolo pôr uma roupa de que gostava.
– Pode ser, Clarinha. Não esqueça a sombrinha.
– Ah, mãe, o céu está cheio de nuvens, não vai fazer sol não.
– Nem pense em sair sem ela! Com essa pele de biscuit você não pode se arriscar. Sol no rosto faz sardas. E eu quero que seja sempre a menina mais linda de todas.
a lle G ro ma non troppo
– Lá vai a menina do convento – cochicha Artur para o irmão. Risinhos abafados.
Clara não ouve, mas um dia saberá do apelido inventado pelos vizinhos. Alguém na escola maldosamente irá dizer-lhe que vive
como prisioneira. A pura verdade: presa por um amor desme dido, que limita sua liberdade ao interior de quatro paredes e que, se proporciona o necessário e o supérfluo para uma criança, nega-lhe o direito de conviver com os opostos e as diferenças.
De qualquer modo, a menina parece pouco propensa à ami zade. Em vez de brincar com as crianças que Débora admite em seu círculo, prefere girar sozinha, horas a fio, um caleidoscópio. Ou escutar, na penumbra, Mozart e Wagner, “aquelas músicas de defunto”, como define o primo Alexandre. E não há mesmo dia mais auspicioso para ela do que o de Finados, quando as rádios só tocam música clássica, e não precisa ficar procurando um programa do gênero…
– Mãe, que compras nós vamos fazer?
– Ah, umas verdurinhas, ovos, pouca coisa. O mais importante é a visita a dona Eunice.
Tinha razão em temer tais passeios. Imagine só, aprontar-se toda para fazer esse tipo de coisa, tinha cabimento? Mas Clara, dócil, sujeitava-se. No fundo sabia que a mãe só queria para ela o melhor. (A ccelle RANDO )
Ao chegarem na quitanda, seus receios aumentam. A menina se lembra da última vez em que estiveram ali. E ela jurara que aquilo não tornaria a acontecer. Porém, Débora é incorrigível, como Clara logo verá.
Não há muitos fregueses. Aos poucos, vai surgindo um bom número deles, suficiente para o que sua mãe precisava:
– Meus amigos, vocês já viram uma menina de sete anos declamar como gente grande? – começou ela.
Clara encolhe-se toda. As pessoas demonstram, primeiro espanto, depois uma polida simpatia. Débora volta à carga.
– Conta para eles, seu Jorge, se minha filha é ou não é uma declamadora de primeira.
O vendeiro confirma, por gentileza e, talvez, interesse tam bém, já que pode reunir o útil ao agradável, atraindo a freguesia. O fato é que ela conseguiu seu intento e logo, logo está formado um razoável público de curiosos.
– Vamos, filhinha, mostre a eles o que você sabe fazer. E a menina, contrafeita: – O que é que eu vou declamar?
– Ora, o que você preparou para a reunião de amanhã. Clara empertiga-se e, como não há mesmo outra saída, anuncia: – De Eustórgio Wanderley, “O beijo do papai”.
Era um longo e melodramático poema, desses que comovem pedras. Dotada de talento para representar, Clara sabe como levar cada verso ao coração do auditório, fazendo-o de modo tão consciente que olha nos olhos de um por um dos presentes, ava liando-lhes a comoção. Nessa tarde, ao terminar de exibir, entre bananas e tomates, toda a sua arte, está triunfante: a maioria enxuga lágrimas. Clara Sprenger começava a desabrochar.
Mara é umas das poucas crianças que Débora aceita para conviver com sua filha. Nascida numa família numerosa, em que é a oitava menina, ela tem o direito de frequentar não só a casa de Clara como o cobiçado quarto dos brinquedos, com seus tesouros.
Hoje, dona Antônia levou-a lá com outros propósitos: as duas irão com as filhas a uma festa de aniversário. Clara está acabando de enfatiotar-se com seu mais novo vestido – feito de organdi branco e tão engomado que espeta-lhe o corpo todo. A amiga veio também em sua melhor roupa, simples saia estam
pada de algodão, com uma blusa branca cujo único requinte é o ponto russo contornando gola e mangas.
Enquanto as mães conversam um pouco, correm as duas para o quarto de Clara e se fecham lá. Meia hora depois, Débora vem saber o porquê de tanta demora. A porta se abre e ela, aparva lhada, contempla o patético quadro: Clara vestida de Mara, e vice-versa. Cada qual mais feliz com a mudança de status, não entendem a zanga de Débora:
– Mas o que significa isso, meninas?
– Ora, mamãe, eu quis emprestar minha roupa para ela, pois estava tão maravilhada.
– Você podia ter emprestado outra roupa e não exatamente a que ia usar!
Clara, irreconhecível nos trajes humildes, sai pela tangente:
– Está bem, mãe. Eu ponho aquele meu vestido azul, de linho bordado, e Mara continua com esse. Deixa ela usar ele, deixa… Débora não teve outro remédio. E a filha, muito sabiamente, livrou-se do suplício, fazendo, de quebra, um gesto de generosidade.
“Esta bíblia pertence à Clarinha que, aos quatro anos, já sabe ler seus versículos”. Com uma experiência de professora primá ria somada à sede de transformar a filha num ser o mais próximo possível da perfeição, Débora descobriu o meio de alfabetizar Clara e, ao mesmo tempo, catequizá-la.
Sentava-se no chão frente a frente com a menina e atirava-lhe cubos de madeira com letras gravadas em relevo.
– Este é o Cê. Cê, viu, Clarinha? Repete com a mamãe: Cê.
– Cê – responde a menina, olhando para o bloco quase do tamanho de sua mão.
Não demorou, e já unia letra com letra, até que numa certa manhã, quando tomava café, leu.
“Lei-te”, decifrou lentamente na lata sobre a mesa. E não parou mais. Lia “eu-ca-lol” no armário do banheiro, “u-ru-do -nal” no reclame do bonde, “O Cru-zei-ro” na revista da mãe. Um dia, Débora resolveu parar com a leitura indiscriminada e fazer com que a menina tirasse algum proveito. Entregou -lhe a Bíblia, com a dedicatória, e começou a ensinar-lhe como manuseá-la. Partiu do menor versículo das Escrituras, que está no Evangelho de João, quando conta a ressurreição de Lázaro –“Jesus chorou” –, continuou com trechos sobre crianças, e, em pouco tempo, estava Clara iniciada na religião adventista, que seguiria por toda a vida.
(S tringendo )
Faz silêncio naquela rua da Zona Norte, nessa hora morta em que a maioria das atividades cessam e o calor opressivo não é cortado nem sequer por uma brisa. Encarapitada no peitoril da varanda, um almanaque do Tico-Tico aberto à sua frente, Clara se deleita com o prato de brevidades que Dos Anjos acabou de trazer.
Olha para o homem que vem passando do outro lado da rua, carregando uma caixa diferente, cujo formato ela logo reconhece.
Fascinada, salta da mureta e corre pelo jardim. Para na calçada. Fica olhando até que o “ser do outro mundo” desapareça dois quarteirões adiante.
Já vira maleta como aquela duas vezes: uma, na revista da mãe; outra, na casa de um tio. Ele havia tirado de dentro dela uma coisa linda chamada violino, com o qual tocou músicas maravilhosas, iguais às que a menina gostava de ouvir no rádio. Desde então, associara a imagem do instrumento ao prazer de escutá-lo.
No dia seguinte, à mesma hora, o homem do violino tornou a passar. Dessa vez, Clara, que o esperava com impaciência, resol veu segui-lo, a distância. Viu quando entrou numa casa estreita e alta, um sobradinho branco com janelas azul-claro. Mas não teve coragem de ir até lá.
No terceiro dia, decidiu-se. Esperou que ele entrasse e, depois de algum tempo, pôs-se nas pontas dos pés: a campainha era muito alta para seus seis anos. Veio atender uma senhora grisa lha, que acolheu com um sorriso amável aquele pingo de gente.
– É aqui que mora o moço do violino, né?
– É sim, é o meu filho. Vamos entrar.
Divertia-se com o jeito da menina.
– Não, não, outro dia. Saí sem falar com mamãe. Só queria saber uma coisa: ele ensina a tocar?
– Claro, querida, ensina sim.
– Então depois eu volto, obrigada.
E se foi em disparada, não dando tempo à mulher de ao menos despedir-se dela. (M orendo poco A poco )
A nd A nte M e S to
Voltou dias mais tarde, quando mãe e filho já começavam a esquecer o episódio. Dessa vez entrou, sentou-se e conversou com ambos, como uma moça.
– Bem – disse Hélio, depois de ouvir seu desejo. – Temos que falar com seus pais. Não posso dar aulas para você sem antes combinar com eles, não acha?
Clara concordou, um pouco desanimada. Conhecia a mãe. Quanto a Nestor, esse vivia em alto-mar, pouco influía nas decisões da casa e, quando consultado, sempre tratava de apoiar a mulher.
Como esperava, a reação de Débora foi uma negativa.
– Tire essa ideia da cabeça, minha filha. Nada disso, você tem que estudar sim, mas declamação. Sua vocação é para declamadora.
Embora não entendesse o significado da palavra “vocação”, Clara compreendeu que seu sonho acabava de desmoronar. Era muito pequena ainda para rebelar-se, mas uma semente de frus tração fora plantada. Que colheita resultaria?
Faltou-lhe coragem para ir explicar-se com o professor. Ou não imaginou que fosse necessário fazê-lo. Hélio Guarneri viveu por longo tempo em sua lembrança como espécie de fruto proi bido. Não mais se encontraram. Não enquanto existiu nela aquele desejo em surdina de se tornar violinista.
Na impossibilidade de tocar o instrumento, Clara volta-se para o que há de mais parecido com o som de um violino – a voz humana. Menina introspectiva e pesquisadora, suas brincadeiras eram sempre originais. Foi assim que um dia, encontrando no quintal o enorme caldeirão de alumínio, onde Dos Anjos fervia panos de prato e que naquele momento secava ao sol, pôs-se a explorá-lo. Meteu a cabeça dentro, ao que a empregada prontamente ralhou:
– Clarinha, larga isso aí, que me deu um trabalhão para ariar! Deixa secando aí mesmo, já, já!
– Tá bem! – fez a menina contrariada e disposta a contar à mãe, que não admitia dessem ordens naquele tom à filha. “Tááá! beeeemmm!” ressoou dentro da panela.
Clara, encantada, faz nova experiência: Mããããã...mãeãeãeãeãe… Agora é que não larga mesmo o caldeirão. Pelo contrário, surda aos apelos de Dos Anjos, ouve apenas as ressonâncias da própria voz. Põe-se a cantarolar suas canções prediletas, sempre testando as possibilidades sonoras.
Inconscientemente, instala-se em seu cérebro o embrião de um propósito. Com o passar dos anos, o germe irá se desenvol vendo para florir no canto lírico. Só então Clara apreenderia o verdadeiro sentido de uma palavra quase esquecida – vocação.
– Cadê a Clarinha, tia?
– Não sei. Não está no quarto dela?
As primas sobem as escadas correndo, enquanto a mãe taga rela com Débora. Abrem a porta do quarto e, como sempre, admiram-se da beleza daquele ninho romântico, decorado com sedas e organdis e tafetás cor-de-rosa, combinando tão bem com os móveis laqueados de branco e patinados de ouro.
Aquela casa era mesmo um paraíso. No jardim da frente, todas as flores que se possa pensar – flox, glicínias, petúnias, bocas-de-leão, amores-perfeitos, zínias… No quintal, um farto pomar. Sempre que iam visitar a tia, os sobrinhos tinham dor de barriga depois, por se empanturrarem com tantas jabuticabas, goiabas, grumixamas, carambolas, pitangas, jambos, laran ja-lima e o que mais houvesse na estação. Para completar, os bichos, que costumavam chamar de “Zoológico de Vila Isabel”, tal a variedade. Nunca faltaram ali papagaios, cachorros, gatos, curiós, tartarugas e, para atender a um súbito capricho de Clara, até um mico viera de Manaus.
Impossível não ser feliz naqueles cômodos claros, ensola rados, janelas enfeitadas com cortinas de voile branco, toalhas alvas de crochê sobre os móveis, muitos bibelôs meio ingênuos, bons objetos trazidos do estrangeiro por Nestor – sobretudo um ambiente cheirando a limpeza, a lavanda e a flor, pois nunca há um jarro vazio.

E Débora, com sua inclinação caseira, seu temperamento ale gre e extrovertido, a cantar sambas e boleros (detestáveis para o gosto de Clara) enquanto vai e vem pela casa, fazendo com gosto o seu papel doméstico. Como não se sentir bem dentro de tal harmonia e segurança, já que a severidade é ditada tão só pelo amor materno?
As respostas virão um dia, para a menina. Por ora, ela está desaparecida e as primas, enjoadas de tantos brinquedos, voltam a procurá-la. Afinal, Teresa tem uma ideia:
– Deve estar com o Emílio.
A casa dele fica defronte e, para delícia das crianças, é cheia de cantos e recantos. O palpite fora acertado: lá estava Clarinha, enfurnada no porão, onde o primo instalara seu ateliê e passava boa parte do dia às voltas com seus quadros. Não era necessário entretê-la, conversar com ela. Bastava-lhe ficar ali, pertinho do cavalete, vendo a arte nascer das mãos de Emílio.
Várias anáguas engomadas por baixo do vestidinho de seda que uma profusão de rendas valencianas e laços de veludo ador nam, finas meias brancas três-quartos, sapatos de verniz com pulseira e, na mão direita, uma sombrinha, feita sob encomenda com a mesma seda cinza estampada de flores rosadas do ves tido. Arrumada, enfim, como uma boneca, Clara passeia cuida dosamente entre as suas margaridas. Trata-se de um canteiro em forma de estrela, onde as flores foram artisticamente dispostas e cercadas de capim leão. Era o recanto favorito do jardim para a menina. Especialmente quando soube que as crianças nascem em cestas de flores e que viera dentro de uma, cheia de margaridas. Passou a amá-las acima de todas as outras.
Cansa de saltitar nas pontas da estrela. Senta-se no banco de ferro e começa a cantar, primeiro baixinho, depois a plenos pul mões, “O sole mio”. Fecha os olhos, enlevada com a própria voz. Tanta alma põe no canto que se admira quando, ao final, escuta os aplausos. Da esquerda e da direita, os vizinhos aprovam seu “recital”. Trepado no muro, Alberto, o ouvinte mais fiel, pede: – Anda, Clarinha, canta mais uma pra mim. “Cuore ingratto” repetirá o sucesso anterior e, assim, sem saber, a menina treina diante da segunda plateia de sua vida.
O programa hoje é ir à praia de Botafogo. Débora aproveita o feriado para premiar a menina, que vive debruçada nos cadernos e que, ao final de cada ano, leva para casa uma nova medalha. É raro tirar menos que 9, e a mãe, ao pensar em tudo isso, bendiz sua determinação de sempre matricular a filha nos melhores colégios.
Clara não demonstra o esperado regozijo. Pudera: e o mar tírio do chapéu, mesmo quando está nadando? Por outro lado, a proximidade do mar… É uma emoção confusa e indefinível a que sente diante daquelas águas. Sem saber por que, Clara chora, chora, chora de soluçar.
Na primeira vez em que isso aconteceu, Débora assustou-se, mas não demonstrou tudo o que lhe ia no íntimo. (Que menina engraçada, meu Deus, não consigo entendê-la. Chora à toa. Chora ao ver o pôr do sol, chora se tem lua no céu, chora quando vê o mar… Naquele dia em que morreu o irmão do Nestor era tão pequena, não podia estar chorando por ele, chorou porque viu o pai chorar. E como chorou! Enquanto era um bebezinho, ainda vá, há os que são mesmo chorões. Mas continuou pela vida afora. Quando isso vai melhorar?).
Em voz alta, sondou Clarinha dentro do que, então, pensava ser a lógica de uma criança de sete anos:
– Você está triste por que não vê papai há muito tempo, não é mesmo?
– Não. Não sei…
O choro recrudesce, talvez pela incompreensão. Mas nem a si mesma sabe explicar suas tristezas. É uma saudade de coisas impalpáveis, de algo que nunca viu ou teve. Uma falta. Débora interroga constantemente a filha, como se de fato buscasse a explicação. No fundo, bem no fundo, sabe que não tem coragem para encarar a causa, que só ela e muito poucos conhecem, de tanto pranto.


Não foste o que nunca voltava. Nem o que cedo partiu. Eras sempre o do tempo presente: guia, colo, ombro, mil homens num só que me amava sem dó nem piedade. Sem débitos nem dúvidas. Sem um ai de medo. Sem segredos. O pai que não me deram e de ninguém roubei veio do amor convivido. Com vívido amor o guardei.





Na década de trinta, Ribeira não era habitada por mais que quatrocentas almas. Uns longes do progresso no resto do país chegam ali, às vezes, em forma de bugigangas, trazidas por mas cates; em forma de notícias, levadas no jornal ordinário que embrulha as tais mercadorias; e em forma de conversa, ouvida da própria boca do forasteiro, quando pousa por uns dias, antes de seguir viagem.
Para se arranchar no povoado, esses caixeiros-viajantes só contam com o albergue de seu Henrique e dona Raquel, um casal de origem judaica, mas já nascido na terra. É pensão humilde –alvenaria, reboco e caiação –, no entanto, prima pela limpeza e pela ordem. Ela, muito doce e afável, ele, autoritário e ensi mesmado, têm como ponto de equilíbrio a neta Isabel, que de cada um herdou o melhor que pôde. Essa meiga e introvertida menina de quinze anos, cujos pais morreram de tifo, vive de ajudar os avós no serviço da hospedagem: lava, arruma, serve a mesa, faz o troco, leva recados, não há função que lhe falte, pois a féria é curta, mal dá para as despesas do estabelecimento e de subsistência da família.
Entende-se: a muito poucos interessa ficar naquelas paragens poeirentas e sem perspectivas. Toda a riqueza de Minas Gerais, mineração e gado, está bem distante daquele canto esquecido por Deus. De modo que só param, e brevemente, no lugarejo, tropeiros, ambulantes, aventureiros.
Jaime volta e meia aparece. Fez boa freguesia na região, com suas vendas de seda chinesa e perfume francês. Comercia pelo estado todo, mas sempre retorna àquele fim de mundo, sabe-se lá por quê.
– Dona Raquel, sabes que tua neta está se tornando uma guria bem bonita?
– Vai crescendo, vai crescendo, moço.
Bem que a velha reparou no modo como aquele sulista olhava para a neta. Fazer o que, se era esta a sina de uma mulher – ter alguém que a desejasse um dia, casar, ter família, labutar na cria ção dos filhos, até que tudo se repetisse noutra mulher, sua filha ou neta. Se tinha que acontecer com Isabel, que fosse com um moço como aquele, bem-apessoado, trabalhador, com bastante ciência da vida.
– Isabel, cê acha graça nesse Jaime que foi embora de manhã zinha?
A menina trocara uns olhares com ele, sim. Duas ou três palavras, de hospedeira para freguês. Sentiu-lhe o interesse diferente, perturbara-se um pouco. Só isso.
– Ah, vó, acho ele bonito, mais nada.
As visitas do rapaz começaram a se amiudar. Já agora seus modos eram mesmo de namorado. Quer dizer, para aqueles tempos sisudos, cortejar era aquilo de parar os olhos nos olhos da pretendida, não ter palavras para outra, adivinhar-lhe os desejos.
Mas isso foi só no começo. De espírito prático, Jaime sabia dispor de pouco tempo para cultivar aquela flor do mato. Melhor seria resolver logo o assunto, pedir sua mão, levá-la consigo.
De seu turno, Isabel sonha com outros horizontes, com uma vida menos acanhada. Não é a planta selvagem que ele parece imaginar, recebeu boa educação dos próprios avós, que, sendo agora pobres, são letrados e de bom berço. A moça conhece maneiras finas, tem até a ambição de casar-se com um músico.
Tudo isso vai sendo revelado aos pouquinhos a Jaime, que a leva na garupa do cavalo. Amarrado a este, segue a mula com
a canastra da noiva, seus poucos pertences. Com a benção de Henrique e Raquel, não sem muitas lágrimas de prévia saudade misturadas ao arroz dos bons augúrios para o casal, os dois dei xaram Ribeira para sempre, rumo de um mundo maior. Seguiam para Conselheiro Barbacena, onde o noivo tinha residência.
A tarde vai muito alta, quentíssima com aquele ar parado, quando entram na cidade. Isabel admira-se da quantidade de construções, algumas de dois andares. O movimento nas ruas é diferente do que conhece, há muitas carroças elegantes, parecidas com umas que viu num livro de gravuras do avô. E também a largueza da estação ferroviária. Assombro maior, porém, aguarda-a na rua principal: dois bondes apinhados de gente cruzam-se no largo central. (A vida aqui vai ser outra, ah, vai…)
Jaime escolhera para morar uma casinha bem modesta, em rua de periferia. Felizmente, luz elétrica e rede de esgotos já haviam chegado até ali. Poeira de terra não era novidade para ela, acostumada a lutar com seu costume insano de entranhar-se nas roupas, nos móveis, no assoalho, na própria pele das pessoas.
Entrou na saleta forrada de vermelhão um tanto desiludida com a realidade. Conhecia a pobreza e a simplicidade de sobra. E viera fugindo de ambas, alimentando seu sonho com fantasias que cresceram a cada quilômetro de estrada vencido. Por que Jaime não pusera um freio naquilo? Por que não lhe pintara com cores menos alegres o destino que os esperava? (Bem, ele não tem culpa se a minha cabeça e o meu coração me levaram muito mais longe.).
Em pouco tempo, Isabel aprende mais sobre a vida e sobre o homem com quem se casara. Aprende que ele sempre tem urgência, que está sempre de partida e raramente de chegada.
Dez meses depois das bodas, dezesseis anos mal aproveitados, ela se torna mãe de gêmeos – Rubens e Rui –, sem que o pai esteja ali, a seu lado, para ao menos dizer, quando estiver morta de cansaço: “Dorme, que agora eu velo o sono deles por você”.
Isso raramente acontecia. Sozinha na lida doméstica meses a fio, Isabel foi consumindo a juventude e as veleidades pessoais. Não de todo. Quando Jaime regressava, em geral trazendo bons presentes, algum brinquedo e, o que era o melhor, dinheiro para as despesas, a vida parece que desfranzia o cenho, ensolarava-se para ela.
Numa dessas vindas, chegou com grande nova:
– Vamos mudar desta casa, Isabel. Aquelas economias que fomos juntando serviram para dar de entrada numa casinha da rua Doutor Crispim, no centro. É pequena feito esta, mas é nossa.
O rosto da mulher iluminou-se. Então, havia esperança de progredir. Quem sabe ia poder cuidar um pouco mais de si, retomar os estudos, conhecer gente mais bem-posta na vida?
De fato, com a mudança, tudo pareceu melhorar. Se Jaime mantinha a esposa enclausurada, sob o pretexto de viajar muito e nunca estar ali para defendê-la de assaltantes, procurava dar -lhe compensações. Assim que o orçamento permitiu, arranjou professores particulares para completar sua formação em casa. Encerrada nessa redoma, Isabel consolava-se estudando fran cês, lendo clássicos da literatura portuguesa, ilustrando-se em história universal e aprendendo, com Mademoiselle Suzette, uma francesa solteirona que os ventos da reforma do ensino na capital acabaram varrendo para lá, a delicada arte de pintar com aquarela. Se tivesse ao alcance um piano ou outro instrumento qualquer, aí então seria felicidade completa.
Essa morna e frágil bem-aventurança veio ser aquecida, um dia, por dois acontecimentos. Primeiro, a chegada de Augusto, o
terceiro filho. Depois, a mudança de novos vizinhos para a casa em frente: a alegre família Amati, encabeçada por um gigante moreno, de origem italiana.
Apesar de ver com bons olhos os recém-chegados, Isabel não conseguiu romper o cerco criado por Jaime e pela própria timi dez. Permaneceu quieta, no princípio, limitando-se a cumpri mentos do portão e acenos da janela. O mesmo não aconteceu do lado de lá da rua. Eleonor, de natural sociável, tratou de apro ximar-se da vizinha, por quem logo tomara simpatia. Em breve, o casal frequentava a casa de Isabel, trazendo-lhe um pouco de calor. Sem que percebesse, essa amizade foi se transformando em dependência para ela, inexperiente demais para sentir-se dona de sua situação.
Nos escassos meses que permanecia em casa, Jaime era homem de hábitos muito arraigados, sistemático mesmo. Uma das normas que ele ali impôs foi que todos professassem a sua religião. Isabel, apesar de criada na crença judaica, não encon trou muita dificuldade em assimilar o adventismo. E os filhos, nascidos dentro dessa fé, não tiveram escolha.
De sorte que a igreja também representava para a moça uma ponte de ligação com o mundo exterior. Ainda que a comuni dade adventista constituísse, em si, redoma de outra espécie, ampliava-lhe de algum modo a ação e preenchia-lhe, em parte, os vazios de sua vida. O pastor Aloísio era sempre alguém com quem podia trocar ideias, abrir-se um pouco. E o culto dos sábados, uma oportunidade de escutar a bela música do coro, de encontrar-se com os irmãos conhecidos e os novatos. Foi esse também um outro vínculo com os Amati, adventistas convictos e fervorosos.
Quando se mudou para a Doutor Crispim, o casal tinha três filhos, dois meninos e uma menina. Um ano depois, Eleonor teria outra menina. Pareciam, aos olhos ingênuos de Isabel, constituir
uma família sólida e feliz. É que o gênio expansivo, brincalhão, de Bernardo, fazia supor um eterno namoro com a vida. (A cceller A ndo )
Jaime está fora há um mês, sem dar notícias. Os gêmeos apa nharam sarampo, dão muito trabalho. Augusto anda um azou gue, difícil separá-lo dos doentes. Isabel esgota-se em tanta can seira. O Dr. Capanema a aconselhava:
– Cuide-se também, que seus filhos precisam de enfermeira eficiente.
Mas falta-lhe tempo para obedecer – alimentar-se, dormir e descansar um mínimo que seja. Se não fosse a valiosa ajuda de Eleonor e Bernardo, levando Augusto para sua casa, trazendo chás e pomadas, dando-lhe o simples apoio de sua presença nas horas de vigília – o que teria sido dela?
A esse pensamento, Isabel suspira, reconhecida. Acaba de sentar-se um pouco na bergère, para tomar fôlego. As crianças dormem. Sem febre e sem fome, ninguém parece necessitar dela agora. Sobre a cristaleira, o relógio bate três vezes.(Esta hora me dá uma lombeira...). Começar a cochilar, quando ouve passos. Fica alerta.
– Isabel? Posso entrar?
– Ah, sim, claro, Bernardo. A porta não está trancada.
– Eleonor me pediu que viesse saber se precisa de alguma coisa.
– Muito obrigada. Está tudo calmo, por enquanto. Até sentei um pouco…
O outro contempla-a, ainda de pé, sorrindo.
– Coitadinha, você tem passado um bom pedaço, hein?
Meio encabulada com o tom carinhoso, Isabel retribui o sorriso:
– Graças a Deus eu conto com vocês dois, que me protegem. Estava justamente pensando nisso quando você entrou.
– Quer dizer que pensava em mim?
O modo como enfatizou o pronome, toda a sua atitude galante incomoda-a um pouco. Mas afasta a má impressão como a um inseto incômodo. (Que bobagem, somos tão amigos…).
Para quebrar o silêncio embaraçoso que se instala, ela con vida, levantando-se:
– Aceita um café? Acabei de coar.
E vai para a cozinha, buscar a bandeja.
Bernardo não espera na sala. Segue-a e tenta retomar a conversa: – Sabe que eu também penso muito em você?
– …
Isabel ganha tempo, ainda reluta em interpretar o que ouve.
– Para dizer a verdade, a cada dia penso mais.
Novo silêncio. Ela está paralisada de susto. Sua mão treme quando volta a descansar a xícara, já cheia, no pires. Bernardo deduz desse tremor uma emoção. Aproxima-se.
– Isabel, gosto muito de você. ( c R e S ce NDO )
Horrorizada agora, vira-se devagar para ele, que está a dois passos de distância.
– O que-que-que significa tudo isso? - consegue balbuciar.
– Significa que estou apaixonado. Você não tinha percebido ainda? Pois eu achei que sim. Você me trata com tanto carinho, me olha com tanta ternura. Você me ama muito também, não é? Diga que sim, estamos sozinhos, não precisa mais esconder.
A confissão brotara como um jorro, ao mesmo tempo que Bernardo, com suas mãos de ferro, segurou-a pelos braços e, unindo o gesto à palavra, puxou-a violentamente para si, beijan do-a com voracidade.
Ainda que estivesse no auge de seu vigor físico, seria inútil lutar contra aqueles punhos de aço. Mas, por intuição, náusea, terror, Isabel ainda reuniu forças para tentar desvencilhar-se e gritar atônita: – Você ficou louco, Bernardo?
Porém, a voz saíra num cicio, como nos pesadelos. Tal qual os piores sonhos que já tivera, suas pernas recusavam-se a andar, a fugir depressa dali, seus braços teimavam em permanecer esti rados para baixo com um peso de toneladas, e era inimaginável erguê-los, quanto mais usá-los como arma. Em compensação, os movimentos daquele homem enorme adquiriam uma rapidez felina. Num minuto (ou num século?) estava outra vez presa entre aquelas tenazes e novo beijo subjugou-a: parecia querer extrair-lhe a alma pelos lábios.
Outro esforço sobre-humano: num forte impulso, Isabel joga -se para trás e deita-se a meio corpo sobre a mesa. Isso parece excitá-lo ainda mais. Investe novamente para a mulher, desatinado, inteiramente cego ao seu repúdio. Ela esboça novo grito de desespero. Ele o abafa com a boca. E suas mãos buscam freneticamente acariciá-la.
Som surdo de gemidos, luta, panos que se roçam, e se ras gam, arrastar de pés, de móveis; um baque mais pesado. Isabel rola para o chão, exaurida. Uma criança sendo atacada por um urso, eis como ela se sente agora. Derrotada, em completo estado de choque, entrega-se. (Deve ser um pesadelo sim, ainda lhe ocorre: qualquer hora vou acordar!)
Em seu desvario, Bernardo esquece que é um ser civilizado, religioso, até então leal e responsável. Nada mais lhe importa. Reconhece a brutalidade de seu ato, mas a consciência disso e o nojo de si mesmo só fazem acirrar a absurda compulsão. Dei xa-se arrastar pelo desejo como se arrebatado por um furacão.
Possui Isabel ali mesmo, no piso frio da cozinha, sem pensar que toda aquela paixão instila dentro dela um veneno, maligno o bastante para transformar em repulsa e ódio o que de outro modo, talvez, chegasse um dia a ser também amor.
( c A l ANDO )
O pastor Euclides sempre reserva um dia na semana para as visitas à comunidade. Às vezes almoça em casa de um, lancha com outro, mas raramente deixa de jantar em companhia da mulher e dos três filhos. Gosta de conversar com aqueles mem bros da igreja que mais se dedicam ao estudo das Escrituras, uma tarefa sagrada para o adventista. É bom trocar com eles algumas ideias, avaliar a densidade de sua fé, compará-la com a extensão de sua prática.
Débora é uma irmã que ele particularmente admira quanto ao último aspecto. Sem alarde, sem jactância, mas com a eficiência que a caracteriza, desempenha uma das tarefas que sua religião coloca em primeiro plano – a caridade. Desde que assumiu a dire ção daquela igreja, há dez anos, Euclides vem observando-a. Ale gra-se por vê-la, todo sábado, sair com a pequenina Clara rumo à casa de um irmão mais carente, com a cesta recheada de surpre sas: ora uma farta salada de legumes acompanhada de pãezinhos feitos em casa; ora uma pilha de roupas, confeccionadas em sua própria máquina de costura. Ou ainda remédios, livros escolares, mantimentos, conforme a necessidade da família.
Além disso, Débora é mulher inabalável em suas crenças. Leva ao exagero certas exigências que o adventismo, como de resto todas as religiões, em maior ou menor grau, costuma impor como sagradas. Uma delas seria o tormento de Clara durante a meninice e a juventude: não poder ir ao cinema ou assistir tele visão nas sextas-feiras, depois que o sol se põe. A interdição permanece até findar o sábado, dia de culto para os adventistas.
Sobre todas essas coisas vai refletindo o pastor, a caminho da casa de Débora, que o havia convidado para um chá.
Ela e Clara o recebem na porta. Como viera com o pensa mento naquela garotinha que cedo já integrara o coro da igreja, fazendo até mesmo solos com sua vozinha de flauta, surpreen deu-se ao reparar que já era quase moça. (É curioso, todos nós relutamos em ver crescerem nossas crianças…).
A conversa ia correndo apenas em torno de assuntos comuni tários quando Clara saiu, enfim, de um polido mutismo:
– Pastor, acho que está mais que na hora de eu ser batizada, já fiz 13 anos.
– Claro, minha filha, fico satisfeito de saber que tomou essa resolução. Olhou para Débora, que parecia exultar, embora se esforçasse para não demonstrá-lo. (Coitada, a adolescência torna a maternidade bem difícil). – Vamos começar então os preparativos, Clara – diz ele. – Você tem estudado sempre a Bíblia?
– Tenho, bastante.
– Ótimo, nesse caso, é só ir me procurar na igreja, semana que vem. Quero testar seus conhecimentos da doutrina. E depois você ensaia com os outros a cerimônia. Dois rapazes irão batizar-se também: o Jacques e o Aulo.
Ao ouvir o último nome, contraiu as mãos, mas, como esta vam sob a mesa, ninguém notou. Aparentemente, não há sin toma algum de que ela deixara de ser a pequena, inocente e dócil Clarinha.
A igreja, como de praxe, tinha por adorno exclusivo as flo res, rosas e margaridas em profusão que as mães haviam arru mado sobre o altar. Ao som do órgão e do canto afinado do coro, entram em fila os três jovens, trajados de branco. Perto da piscina batismal, o pastor espera, usando uma toga azul-marinho.
Clara está agora ladeada por Jacques e Aulo. Treme um pouco, está corada, os olhos brilham. Aulo vira a cabeça num movimento rápido e, por alguns segundos, os dois se encaram. Uma centelha passa, ao mesmo tempo, pelo cérebro de Débora, que está bem atenta ao ritual. Logo se apaga.
Depois de rezarem uma singela oração, chega o momento mais importante da cerimônia. Clara é a primeira. Aproxima-se do tanque, onde entra devagar com Euclides. O pastor sustenta -lhe a nuca com uma das mãos, enquanto a outra segura a mão da menina. Por alguns segundos, inclina o corpo dela para trás e sub merge-a totalmente naquela água que se conserva sempre pura. Pronto: Clara é agora, de fato e de direito, uma nova adventista.
A lleg R e TTO
Casar-se com ele era o mais lógico. Fora o primeiro e único namorado, habituara-se, pois, a sua companhia. Além do mais, havia duas urgências a atender: uma, natural, consequência da atração entre ambos, que ia tornando o namoro perigoso aos olhos de suas famílias. A segunda, exclusivamente dela – a ânsia, ou antes, compulsão, de ter um filho.
Como viesse expressando tal vontade com frequência cada vez maior, Débora não teve alternativa senão dar os arremates no enxoval que vinha há muito sendo confeccionado com as sedas, linhos, cambraias e outras preciosidades estrangeiras que o marido fora trazendo de viagens.
Nove meses depois das núpcias, cumprindo aquela espécie de predestinação familiar e com apenas dezesseis anos, Clara dava à luz Ruth, bela desde o primeiro suspiro neste mundo.
Como Aulo era um pequeno funcionário de banco iniciando carreira, tiveram de ir morar com seus pais, Noêmia e Otávio, nos primeiros tempos. Clara nunca havia sido tão feliz. Reali zara não só o sonho feminino da maternidade, como também um desejo mais profundo, que guardava só para si: ter alguém de seu sangue, alguém que se ligasse a ela por laços de verdade, não de ficção.
“Uma menina ainda, mal saída dos cueiros”. Rotulando-a assim, a mãe de Aulo determinou, sem maldade, que a nora era incapaz de criar a própria filha e tratou de substituí-la nesses cuidados. Noêmia assumiu toda a responsabilidade sobre a neta. Só a entregava a Clara depois de banhada, vestida e alimentada. Era então o momento de “brincar de boneca”.
A partir daí, estabeleceu-se entre as duas uma relação espe cial, que, com o tempo, acentuou-se. À medida que Ruth foi cres cendo e revelando um temperamento meigo e sensível, aliado, porém, a uma personalidade forte, determinada, deixou de ser para Clara o brinquedo predileto para se tornar a amiga, confi dente e até conselheira. Nada mais natural. Inconscientemente, ela não buscara a maternidade apenas para uma realização afetiva, para preencher um grande vazio. O companheirismo com a filha foi o modo que encontrou de ter nova oportunidade, de começar tudo outra vez. Por sorte, viera-lhe uma menina, o que tornava esse “renascimento” ainda mais autêntico. Amando a filha, aprendeu como amar a si mesma, àquela Clara expulsa do ninho, que a muito custo descobrira ser, entre patos, um cisne.

Desde o primeiro minuto de vida de Ruth, Clara não se sepa rava dela para nada. Ainda grávida, decidira procurar o Conservatório para aprimorar a voz e o desempenho no coro da Igreja. Ao ver-lhe o estado, a diretora dissuadiu-a: melhor seria come çar depois que o bebê nascesse.
Agora, com Ruth bem embrulhada na mantilha de lã, sacola provida de mamadeiras e fraldas na outra mão, Clara dirige-se novamente ao Conservatório. Atende-a aquele que seria seu único mestre.
– O que a… senhorita deseja? Hesitara quanto ao tratamento que devia dar àquela meninota com uma criança nos braços.
– O professor Nuno Pacelli?
– Sou eu. Faça o favor de entrar.
Uma vez naquela sala mobiliada com um gosto antigo, em que passaria tantas tardes de sua vida, Clara explicou-se.
– Quero ser cantora, ter aulas com o senhor.
– Pois não. Conte-me um pouco de sua experiência.
À proporção que ela falava, ia avaliando o timbre, a cor, o volume da voz de Clara. Depois, foi até o piano e acompanhou-a num rápido solo.
– Vê-se que você cantou desde pequena em igreja – comentou afinal. – Sua voz tem uma impostação natural. Vale a pena traba lhá-la, sim. Mas qual é o seu propósito com isso?
– Vou continuar cantando na igreja mesmo. Só pretendo me aperfeiçoar.
– Pois bem, podemos começar ainda nesta semana. Terças e quintas, está bem para você? Às três da tarde. Então, até lá.
Dois dias depois, estava de volta: Ruth no colo, sacola de mamadeiras, tudo como da outra vez. Cumprimentou Pacelli que, admirado, indaga:
– O que você pretende com esta criança?
– Uê... é minha filha, levo aonde vou.
– Você não tem com quem deixá-la?
– Bem, tenho, os avós. Moramos com eles.
– Pois então, da próxima vez, deixe o bebê em casa. Onde já se viu ter aulas com uma criancinha do lado?
– Mas, professor, ela é muito mansinha, não atrapalha…
Não foi preciso argumentar mais. Ruth começou a chorar a partir do primeiro acorde do piano, e a aula teve que ser sus pensa. A mãe estava finalmente convencida de sua ingenuidade.
– Quando você entra no palco para cantar, seu porte deve refletir segurança, firmeza. Ande assim. Chegando ao lado do piano, você deve se colocar deste modo, com a mão direita pousada sobre ele e a esquerda caída ao lado do corpo.
“Nunca faça isso, muito menos aquilo. Faça assim e assado”. Qual um professor Higgins com sua Elisa, Nuno foi moldando Clara para o que, no fundo, sabia estar destinado a ela – ser não uma simples corista de música sacra, mas uma cantora lírica de peso e renome.
A diferença para o Pigmalião inglês estava no fato de que a matéria em suas mãos era menos bruta e sua pupila acalentava uma ambição que só aos poucos ela própria reconheceu: a de encontrar uma identidade através do canto.
– Hoje me saí muito bem, não é, professor?
– Razoavelmente. Há que se batalhar muito, menina. Nunca fique satisfeita consigo mesma, isso é um perigo!
Sempre, sempre assim: implacável, exigente. Pacelli não só parecia querer extrair o máximo da aluna, certamente por vis
lumbrar seu potencial, como fazia questão de não deixar que a vaidade a fizesse estagnar ou contentar-se com pouco. Assim, à medida que Clara evoluía musicalmente, todo o corpo docente do Conservatório viu crescer o orgulho do mestre, que a eles contava o que não podia dizer a ela. Tinha seus meios de exibi-la sem que notasse e fosse vítima de uma presunção.
– Clara, hoje convidei alguns colegas para assistirem a nossa aula. Você precisa ir se acostumando com plateia. É muito importante.
Ela acredita. Pacelli fora se transformando em algo além de um orientador musical, sua palavra tinha credibilidade toda especial para Clara. Nessa, como noutras ocasiões em que convidados de Nuno apareceram para conferir sua performance, não lhe ocorrera que já possuía a experiência de cantar em público, desde a mais tenra infância.
(R A lle NTANDO )
Faz tempo que Aulo está na varanda, debruçado no peitoril de cerâmica vermelha.
– Papai, qual é a capital do Rio Grande do Norte?
– É Natal, filha.
– Ah, é mesmo, estava confundindo com a da Paraíba. Da Paraíba é João Pessoa, né?
– Acertou.
– Papai!
– Humm…
– Você me leva ao circo domingo?
Longo bocejo. Tosse demorada. Suspiro.
– Que circo? Onde?
– Ah, depois eu te falo, agora esqueci. Disfarçando a decepção, Ruth volta ao caderno. Isto é, finge que estuda, está martelando os pensamentos costumeiros: Ele é sempre assim, quando eu quero que ele me leve pra algum lugar, fica com esse jeito de quem está com preguiça, fala que leva sim e depois esquece. Aí, quando eu lembro que ele prometeu, diz que hoje não pode, amanhã, quem sabe? Aí, quando chega ama nhã, ele diz que não prometeu nada, que é melhor ver se mamãe ou vovô me levam. Aí, eu peço pra eles, um deles me leva e acabou-se a história. Com ele mesmo, que é bom, eu acabo não saindo. Eu gosto tanto dele!… Acho que também gosta muito de mim: me traz chocolate, revista em quadrinhos, vem despedir de mim na cama, passa a mão no meu cabelo, me chama de “minha ovelhinha branca”, por que será que me chama assim? Será que é porque meu cabelo é clarinho? Ele me põe no joelho dele de vez em quando e conversa comigo como se eu fosse a mamãe, ou a vovó, ou o vovô. Ele me trata como gente grande, não como criancinha, que nem o tio Felipe me trata. Por isso é que eu gosto dele e acho que ele gosta de mim. Só não sei por que não gosta de sair comigo…
– Vovô Nuno! Que bom que o senhor veio hoje aqui! Sabe por quê? Porque eu estou querendo ir ao circo e não tem ninguém pra me levar…
Pacelli sorri da sinceridade de Ruth, enquanto ela se pendura no seu pescoço, quase fazendo-o perder o equilíbrio. Clara, atraída pelas exclamações da filha, chega à sala. Observando-a por sobre o ombro da menina, ele experimenta, mais uma vez, aquela certeza que tanto sabor dera a sua vida nos últimos anos: a família que não fiz, Deus me deu feita.
– Como é, Pacelli, será que sua neta vai deixar alguma sobra pra mim?
Ruth ainda fica por ali um pouco, aninhada no avô postiço, enquanto este e Clara, já acomodados no sofá, conversam. Na intimidade, Clara o trata pelo nome, sem títulos, e ele, austero e lacônico dentro da sala de aula, torna-se um homem amoroso, acessível, simples de gostos e de trato. Sua prosa é interessan tíssima, soma das experiências do passado. Além de professor e pianista, Nuno fora também ator de cinema, fazendo pontas ou papéis secundários nos celebrados musicais da Atlântida. Eram filmes que tinham seus méritos, quando nada, históricos. Desse tempo, Pacelli guardava, pois, muitas e deliciosas lembranças.
Mas é de um assunto muito especial que tratam agora, no apartamento de Clara. Neste instante, o professor de canto exorta a aluna, apesar do ameno tom paternal na voz:
– Clarinha, você não pode ficar estagnada num coro de igreja. Seu talento é para muito mais que isso.
– Pode ser, Pacelli, mas daí a ser profissional mesmo…
– E o que tem de extraordinário nisso? É uma carreira como outra qualquer.
Nuno é assim: avança e recua nos elogios, mesmo aos melho res alunos.
– Mas para isso tenho que fazer as tais provas, passar no con curso. Não vou conseguir.
– Se eu digo que você pode, é porque sei que pode. E deve –arrematou.

Entrar para o coro do Municipal do Rio de Janeiro parecia ainda um objetivo impensável. Mas a insistência do professor acabou por convencê-la. Afinal, fizera cinco anos de Conservató rio, talvez estivesse mesmo preparada.
Ainda assim, deixou para se inscrever na última hora do último dia. A banca era composta de oito maestros, e as provas duravam uma semana, examinando os candidatos sob vários aspectos: leitura de partitura à primeira vista, memória auditiva, árias – cada concorrente preparava oito peças, das quais uma seria sorteada na hora –, prática de coro, ou seja, o candidato cantando também sem ensaio junto com outras vozes às suas costas e, finalmente, a extensão vocal.
Clara terminou a maratona descrente de seu desempenho. Não se saíra mal, porém havia tantos candidatos… Quinze dias depois, a surpresa estampada no Diário Oficial: tinha passado! Ela mesma telefonou para o professor, que recebeu a notícia com alegria, mas sem espanto:
– Eu não disse? – limitou-se a comentar.
Possuía agora um emprego estável, e, desde o início, ficou claro que a nova funcionária era algo mais que uma corista do Teatro. Seria também a estrela, destinada a brilhar sozinha nesse e noutros palcos, sem que o trabalho em grupo pudesse interferir na carreira pessoal. Clara tinha plena liberdade para aceitar os convites que lhe permitiriam tornar-se a grande solista que o tempo revelou.
– Mamãe, o teatro está lotado! Ruth roía as unhas.
– Ótimo, filha, é assim que eu gosto.
Calmamente, dá os últimos retoques no blush.
– Ai, mãe, tenho tanto medo…
Condoeu-se do nervosismo da menina. Puxou-a para a ban queta, dando-lhe um espaço a seu lado. Abraçou-a.
– Não há motivo pra ficar assim, querida. Não é você que vai cantar, sou eu Clara. E a coisa que me dá mais pavor é casa vazia, uns poucos gatos pingados na plateia. Isso, sim, é a tra gédia para um artista, filha. (Coitada, sofre por mim. É uma pena, com o ouvido que tem, com essa sensibilidade, sua musicalidade toda, poderia seguir meus passos... mas e o pânico do público?)
Ruth precisou crescer para se livrar da ansiedade que a vida artística da mãe, cada vez mais famosa, lhe provocava. Seguia-a por toda parte, sempre presente em cada momento – nos bastidores, nos camarins, na plateia com o pai. Mas um medo invencível tirava boa parte do prazer de ver Clara aplaudida e quase venerada.
Quando, já adulta, relembrou com a mãe esse período con flitante de sua adolescência, Clara ficou pensativa. Acabou con cluindo, entre risos de ambas:
– É, acho que fiz mal em não obrigar você a declamar nas qui tandas quando era pequena. Assim, eu teria lhe poupado muita angústia.
A quitanda de Ruth acabou sendo a sala de aula. Tornou-se, além de terapeuta, uma desinibida professora universitária.
Em pouco tempo, Clara estava entrosada com os colegas do coro. Arredia quando menina, soube canalizar seu fascínio natu ral e conquistar muitos amigos. Tinha consciência de que a pri meira coisa a atraí-los era sua arte, seu magnetismo de atriz. O resto vinha com o tempo.
Foi-se familiarizando também com os membros da orquestra e, o que era previsível, começou por aproximar-se dos violinis tas. O spalla, um senhor de seus cinquenta e poucos anos, bela cabeleira grisalha, chamou logo sua atenção. Apresentaram-se: Hélio Guarneri, disse, olhando-a também com interesse. Clara passou o resto da tarde com o nome a martelar-lhe o cérebro. Já o ouvira antes, e sua memória, tão treinada, raramente a engana.
Chegando em casa, ligou para Débora. Falou sobre o instrumen tista: a outra não se recordava de ninguém com esse sobrenome.
– Pois eu tenho certeza, mãe, e é conhecimento muito antigo. Vou acabar descobrindo.
Um dia, ao vê-lo sair do Teatro com sua caixa, teve a nítida sensação de reviver uma cena. Lembrou-se. Correu atrás de Hélio que, um tanto surpreso, esperou-a.
– Desde que fomos apresentados ando com a impressão de que já o conhecia – explicou ela. – Acho que sei de onde. Por acaso, o senhor morava com sua mãe no Grajaú, na década de cinquenta?
– Morava e ainda moro. Só que ela faleceu. Vivo sozinho.
– Lembra-se de uma garotinha que o seguiu na rua e depois pediu que lhe ensinasse a tocar violino?
A fisionomia de Hélio foi-se abrindo num sorriso de reconhe cimento à medida que ela falava.
– Claro que sim! Mas ela desapareceu e fiquei pesaroso, por que é raro alguém que manifeste assim tão cedo uma vocação… Mas estou vendo que o pendor dela era outro.
Abraçaram-se como velhos conhecidos que eram. Clara resu miu-lhe sua trajetória, ele contou como ascendera àquela posi ção destacada de primeiro violino. Era o coroamento de uma carreira construída com empenho e talento.
Hélio tornou-se um de seus amigos mais próximos. Havia entre eles aquela preciosa ligação do passado, como se desde então estivessem predestinados a um encontro como o de agora, entre espíritos afins.
A NDANT e me STO
Clara saiu cedo para o Municipal, onde haverá o último ensaio da orquestra. Diante do piano, revê seus números de hoje à noite. Lavínia, uma angorá muito suave que Pedrinho lhe deu de aniversário, caminha sinuosamente pela beirada da janela, como se estivesse a um metro do solo e não no décimo primeiro andar do edifício. “Os gatos são assim, equilibristas natos”, dis sera Clara a Ieda, logo que mudaram para aquelas alturas e a amiga se horrorizara com o temerário hábito do bichinho.
Uma brisa gostosa chega do Atlântico, lembrando a Clara que a janela ficou aberta. Como não gosta de obrigar os vizinhos a ouvirem seus estudos, interrompe imediatamente o exercício para fechá-la. E prossegue nos vocalizes pelo resto da tarde.
Quando Ieda chega para buscá-la, há um ajuntamento de pessoas sob o prédio de Clara. Aproxima-se com maus pressentimentos, que logo vê confirmados: lá está o que resta de Lavínia, a gatinha que sabia abraçar e beijar seres humanos, sempre que a carregavam no colo. Ao saber que a amiga ainda não tinha sido avisada do acidente, Ieda apavora-se com a hipótese de isso acontecer antes do recital. Tem perfeita noção do quanto a outra é apegada a seus gatos e, de modo especial, àquele terno novelo de lã. É preciso pensar e agir rápido.
Pediu ao porteiro que removesse o animal dali, escondendo-o até que elas saíssem de casa. Subiu pelo elevador de serviço, bateu de leve na porta dos fundos e contou a Lia, sucintamente, o acontecido.
– Agora, você vai lá embaixo e ajuda a enterrar a gatinha. Quando ela voltar pra casa, você conta o que aconteceu.
Clara, que se vestia, trancada no quarto, nada percebeu.
Foi para o Teatro com Ieda, esquecida de que, coisa rara, saíra de casa sem se despedir de Lavínia.
O espetáculo começou e acabou impecavelmente, porém ela, com sua sensibilidade quase sobrenatural, cantou com inde finível angústia oprimindo-lhe o peito. Não quis espichar a noite num restaurante, na companhia dos colegas, como sem pre faziam. Pediu a Vinícius que fossem diretamente para casa, estava cansada, indisposta. Ieda piscou para o afilhado, que ace deu sem compreender.
(R A lle NTANDO )No rosto de Lia, a aflição não tinha mais como se esconder:
– Dona Clara, aconteceu uma coisa ruim, foi dizendo sem tato, incapaz de prosseguir carregando sozinha aquela tristeza toda.
– Ah, meu Deus, o que aconteceu? Foi Ruth?! Diz logo, criatura!
– Não, dona Clara, estão todos bem lá. Foi aqui mesmo. Foi a…
– … Lavínia! – o grito saiu doloroso, porque já adivinhara a causa do acidente. Fui eu que matei a pobrezinha, quando fechei a janela!
De nada adiantava martirizar-se, acrescentando o remorso à dor da perda. E por ter sido esta tão difícil de superar, Clara decidiu nunca mais possuir um gato.

(Que bom minha filha ser tão saudável, tão forte. Tenho cer teza de que não será preciso induzir. Tudo vai correr bem. Dez e meia. E já faz uma hora que ela entrou. Está tão feliz de ganhar uma menina. Eu também. Daniel não podia ficar mais tempo reinando sozinho, está cheio de vontades, corria o risco de virar um dengoso. Agora não, com a irmã, vai ter que aprender a dividir. Coitadinho, vai também conhecer o ciúme…)
Já fazia uma semana que nascera de Ruth uma robusta meni ninha, Luísa, morena clara como o pai e sem um fio de cabelo, como todos os recém-nascidos da família de Clara. E, como mui tos outros bebês de sua geração, viera ao mundo semipronta. Luísa já acompanhava o movimento da cabeça de Ruth, enquanto esta trocava suas fraldas.
– Vovó ainda não te viu acordada assim – vai dizendo naquela entonação que as mães inventam para falar com seus filhos pequenos. – Ela vai ficar boba com sua esperteza, menina.
Somente agora Clara conheceria realmente a neta. Logo após o nascimento, tinha embarcado para São Paulo, onde se apresentava em curta temporada, compromisso há muito assumido por seu empresário. De volta, nem passou em casa para deixar a bagagem, foi diretamente para a casa da filha.
– Que bom, mãe! – disse Ruth ao abraçá-la. – Luísa acabou de tomar banho, ainda está acordada. Está linda, sabe? E já engor dou seiscentos gramas, imagine, só com o meu leite!
Clara se aproxima do berço sentindo uma emoção que só mais tarde compreenderia. Lá está a garotinha, enrolada feito um casulo na manta cor-de-rosa que Consuelo tecera. Observa o móbile de borboletas que balança ligeiramente no alto do berço, preso ao cortinado. Clara afasta o filó e, a esse movimento, Luísa
vira imediatamente o rosto em sua direção. Os olhos de ambas se encontram e, Clara nunca duvidou disso, o bebê reconhece-a. Não foi apenas aquele olhar fixo, imperturbável, que as crianças pousam sobre o que lhes interessa, seja objeto ou gente. Era algo além, algo indefinível e, no entanto, patente, concreto. A emoção a faz cambalear um pouco, buscando apoio na grade da cama.
– O que foi, mãe? – preocupou-se Ruth, observando-a com mais atenção.
– Não sei… - a voz saiu tremida. – Que coisa estranha, filha…
– O quê? A outra começava a se assustar.
– O olhar dessa menina. Ela me re-co-nhe-ceu, Ruth – diz Clara, frisando bem cada sílaba. – É como se estivesse esperando por mim, ou sei lá o quê… Só sei que me deixou até meio tonta… Chegaram a pensar, quando Luísa já estava com seus seis anos, em levá-la a um centro espírita que ajudasse a esclarecer o mistério da ligação entre neta e avó. Mas, para quê? O que isso poderia acrescentar ao amor que se desenvolvera naturalmente entre elas, ao entendimento, muitas vezes silencioso, que as unia? Clara acabou compreendendo que seu sentimento por Luísa dispensava explicações e constituía, também, uma experi ência afetiva totalmente nova para ela, algo que ainda não fruíra em sua rica vida – o verdadeiro sentimento maternal. Pois foi Luísa quem, afinal, o despertou em Clara.
Ainda estava muito cedo, Andréa não chegara. Resolve come çar sozinha. Abre o piano, toca um lá, que repete com a máxima potência de sua voz. O lá ecoa por toda a Escola Villa-Lobos, deserta e envolta numa meia penumbra, com as cortinas fechadas. Já fizera o aquecimento pelo caminho, no carro, não precisava agora poupar a garganta.
Mal começara, e uma porta estreita, lateral, abre-se o bas tante para dar passagem a duas cabeças masculinas, que inter rogam-na com os olhos. O louro, meio esquelético, atreveu-se a entrar, o mulato permanece com o corpo de fora, intimidado. Ela para e espera. O rapaz magro percebe a deixa:
– A senhora desculpe a gente interromper. Sou aluno aqui da Escola, ele – o louro aponta para o outro – é meu amigo. Estáva mos passando no corredor, ouvimos a senhora… Será que pode mos ficar aqui escutando, quietos?
– Podem sim, não tem problema. E já ia se voltando para suas partituras novamente, enquanto os dois se acomodavam na pri meira fila, quando chegou a pianista, afobada.
– Desculpe se me atrasei, Clara, foi o tráfego. Vamos começar logo?
Andréa senta-se ao piano e combina: – Acho melhor seguirmos a ordem do programa, assim repassaremos tudo. Então, os três leader de Mozart para começar, não é?
Ao terminar a primeira peça, Clara volta-se para os dois rapazes, buscando-lhes a reação: o mulato chorava copiosamente, empapando a camiseta.
Desce até a plateia. Estende-lhe a mão, estava impressionada com tamanha sensibilidade. Ainda aos soluços, apresentam-se.
– O que você faz, Maurício, estuda?
– Estou no segundo científico, mas o meu sonho mesmo é ser cantor.
– Tenor, não é?
– Como é que a senhora sabe?!
– Treino. Meu ouvido não me engana. Mas você também já conhece um pouco de canto, provavelmente canta em igreja.
– Puxa, a senhora parece que adivinha! Canto sim, sou batista.
– O problema dele – esclareceu o rapaz magricelo – é que fica muito pesado pagar o curso. O Maurício trabalha de office-boy, mas só dá para ajudar em casa, a família é grande, a senhora sabe como é…
Clara lembrou-se de quando começara no Conservatório, com o orçamento apertado, Aulo ganhando o suficiente apenas para a alimentação e as despesas de Ruth. O resto eram seus pais que pagavam, livrando-os, além de tudo, de um aluguel. Não sobrava para mais nada. Assim, ela comparecera a duas aulas e sumira. Pacelli tinha conseguido localizá-la:
– O que houve, mocinha? – perguntara ele ao telefone. – Por que não está vindo às aulas? É problema financeiro?
Engasgara, não sabia o que dizer.
– Escute – insistira ele – venha até aqui, vamos conversar.
Chegando lá, ele anunciara: “De hoje em diante não me fale mais em dinheiro, certo? Você vai fazer o curso completo sem se preocupar. Esta casa está a seu dispor, para o que precisar, quando precisar”.
Pacelli acreditara nela, investira nos dons que havia pressen tido desde o primeiro momento. Tinha sido para ela um padri nho inestimável.
– Maurício, vou falar com o diretor da escola. Vou ver se arranjo uma bolsa para você. Mas não é possível! Você vai chorar outra vez?
Clara cumpriu a promessa. Muitos anos depois, soube que Maurício, sem alcançar o que pretendia no Brasil – viver do canto lírico – fora para os Estados Unidos, onde poderia, talvez, trabalhar em musicais da Broadway. Se conseguira ou não, ela nunca soube. (O importante é que ele não deixou de sonhar, e sonhar alto…)
Sentada em seu colo, alisa o cabelo quase branco, passa a mão no queixo para ver se a barba já está começando a espetar, remexe no pequeno tufo de cabelos que sai da orelha… Depois, os dedi nhos correm pela gravata azul-marinho de listras grená e chegam, finalmente, ao prendedor de pérola que a atrai como um ímã.
– Vovô Nuno, quando você morrer, você me dá isso pra mim?
Pacelli explode numa gargalhada, e Clara, que vinha entrando com dois copos de suco, improvisa uma cara zangada:
– Onde já se viu isso, Rutinha, falar uma coisa dessas?
– Deixe a menina… Dou sim, querida. Pode deixar que vai ser seu. Só não dou agora porque não tenho outro.
Ruth, em sua inocência, não se conformou ainda com a censura da mãe:
– Se eu pedisse pra ele me dar hoje, aí é que você ia achar ruim, né, mamãe? O que é que tem, então, eu pedir pra quando ele não precisar mais?
Sua lógica era irretorquível, mas Clara ainda achou que devia por um freio em tanta franqueza.
– Você tem razão, filhinha, o problema é que nós não quere mos que o vovô morra e você falando desse jeito…
A malícia do raciocínio era demasiada para a pureza da menina, que logo, com os olhos marejados, consertou:
– Eu não quero mais este alfinete não, vô. Eu prefiro você! Estreitou-o com força e, falando para si mesma, mais conformada: – Além do mais, até lá, ele já deve estar mesmo todo estragado. (R A lle NTANDO )
Pacelli não viveu muito tempo mais, porém, o suficiente para ser aquele que faltara na vida de Clara: mestre, conselheiro, guia, amigo, mas, acima de tudo, pai. Embora passassem todas as tar des juntos, no Conservatório, ainda se falavam pelo telefone ao menos duas vezes: de manhã, quando ele ligava para dar-lhe bom dia e, só pelo tom da voz de Clara, já sabia como andava seu humor; e também à noite, para se despedirem.
Assim, quando, certa manhã, a irmã de Nuno, a violinista Pietrina, ligou para o Conservatório em prantos, contando que seu irmão acabara de sofrer um enfarte fulminante, a primeira reação de todo o professorado foi:
– Meu Deus, o que vai ser de Clara?
A notícia chegou ao Municipal meia-hora depois. O diretor do coro, Kepler, resolveu esperar que Clara terminasse o ensaio, enquanto ele próprio ensaiava as palavras menos duras.
– Clarinha, minha querida, venha cá, vamos conversar.
Foi levando-a para os bastidores e sentiu os ombros dela rete sarem quando lentamente preparou-a:
– Sabe, minha amiga, aconteceu uma coisa muito triste. Você vai ter que ser forte.
– Pelo amor de Deus, fale logo, Arnaldo!
P e SANT e
– O nosso velho Pacelli, Clara…
Não era preciso continuar a frase, a desolação de Kepler contava o resto. Clara aceitou o refúgio que ele lhe oferecia em seus braços e chorou todas as lágrimas que tinha. Pior que esta, só a dor de perder Débora, anos mais tarde.
Foi para o cemitério velar o amigo por apenas uma ou duas horas: naquele dia estreava no Municipal uma Missa Solene, de Beethoven, em que era solista. Não tinha como se furtar, os ingressos haviam sido totalmente vendidos. Clara achou que não seria capaz de cantar nesse estado de alma uma peça tão difícil. Entretanto, o próprio Pacelli não insistira sempre no pro fissionalismo?

Toda vez que Amália entra na cozinha de Clara tem vontade de rir. Ou de chorar. Lá está sua pobre amiga às voltas com panelas, vasilhas, talheres, uma confusão que só Deus sabe. “Um dia eu aprendo com você” – se desculpava ela, resignada.
A vizinha era mesmo exemplo de organização e eficiência dentro de uma casa. Clara, apesar de criada por mãe tão laboriosa, tão prendada, não tivera tempo de aprender seus métodos. Quando menina, vivia às voltas com os estudos. Depois viera a fase do completo relaxamento, quando qualquer tentativa de ensinar-lhe, por parte de Débora, era rechaçada prontamente. Casara-se cedo demais e fora morar com a sogra, que nunca a deixava executar nenhum serviço caseiro.
Só quando Ruth completou sete anos de idade é que resolveu dar o basta:
– Não é possível mais vivermos nessa dependência de seus pais, Aulo. Nós dois temos emprego, modesto sim, mas dá para a gente se sustentar, criar sozinhos nossa filha. Nós temos de ter vida própria.
Há um ano estavam em Copacabana, morando num sombrio edifício da Barata Ribeiro. No entanto, era o seu lar, e Clara se orgulhava de poder chamá-lo assim. Vinha lutando muito com as atividades domésticas, mas, por sorte, encontrara logo na vizi nha um anjo protetor que, aos poucos, conseguia ensiná-la a ser dona de casa.
Foi Amália quem correu com Ruth para o pronto-socorro, quando a garota levou um tombo da bicicleta e fez fundo corte na testa. Clara estava trabalhando, só foi avisada pela amiga depois que tudo serenara em sua casa. Era Amália sua companheira de praia, pois tinham filhas da mesma idade e, sempre que podiam, aproveitavam as manhãs de sol. É Amália quem reanima Clara, quando as coisas com Aulo não vão muito bem:
– Eles são todos parecidos – minimizava a amiga. – Você vê o João: é tão bonzinho, tão zeloso de mim e dos meninos. Mas volta e meia fica emburrado, reclama de bobagens, implica à toa. O que importa é o que eles são no fundo e não como eles estão hoje. Ou amanhã.
Clara, porém, sabe que Amália está só tentando ajudá-la. João é um marido raro, jamais o vira de mau humor. Amália inventa defeitos que ele não tem, para tornar menores os de Aulo aos olhos da outra. Às vezes, percebe que Clara não fica muito convencida com seus argumentos e tira da manga o que tem por carta infalível:
– Você já ouviu falar em crise dos sete anos, minha amiga? Pois é, você está vivendo a sua. Depois passa… (D imi NU e NDO e A ll AR g ANDO )
Nunca passou, de fato. Agora que veste o marido com seu último terno, que o contempla e lamenta a injustiça de uma pessoa morrer na flor da idade, tem a certeza de que seu casa mento jamais existira. Mal haviam se apagado as breves chamas da lua-de-mel, e um convívio morno instalou-se para sempre entre eles. Bem que ela tentara, bem que procurou mostrar-lhe o abismo em que se afundavam. Ele permaneceu indiferente. Assim, a princípio pelo bem da filha, única pessoa a tirá-lo de sua melancolia, depois por causa da doença que o foi consu mindo a olhos vistos, conformou-se com uma vida afetiva sem variação de temperatura.
Amália é a primeira a chegar, com um ramalhete de rosas que irá depois enfeitar o caixão. Abraçam-se longamente, sem que seja preciso dizer uma palavra. Outros amigos vão chegando, para esperar com ela aquele duro momento em que a funerária vem buscar o corpo. Para ninguém, entretanto, a dor da perda se
compara à de Ruth: essa segunda experiência com a morte – o adeus ao “vovô” Nuno havia sido o primeiro grande golpe para a menina, ainda tão pequena – fará com que, por algum tempo, tenha medo de amar. Se Aulo nunca desempenhou plenamente o papel de pai, os dois haviam sido a principal referência mascu lina de sua infância.
Um ouvido absoluto não combina com uma sensibilidade à flor da pele – costuma dizer Clara para justificar uma de suas muitas fobias, o horror a seringas.
– Por que, Clara? – quis saber Amália, quando a conheceu melhor.
– Ora, porque é insuportável ouvir o barulho da agulha pene trando na carne!
Essa foi a razão de inventar um estratagema para driblar o pânico, quando precisou tomar uma série de injeções. A farmá cia, em frente de sua casa, só era aberta às nove da manhã. Mas, se alguém tivesse urgência antes desse horário, podia bater na portinhola recortada na cortina de metal. Quando descobriu isso, Clara combinou com o farmacêutico o modo de administrar as doses: ia até lá às oito, dava três batidas na portinha, que era então prontamente aberta por ele. Ela introduzia ali o braço, virava a cabeça e concentrava-se em escutar o mais atentamente possível os barulhos da rua, enquanto recebia a aplicação…
Amália pensou que isso fosse fantasia da amiga, inventada apenas para fazê-la rir. Até o dia em que as duas decidiram furar as orelhas. Amália, acompanhada por Clara, atravessou a rua e foi à farmácia, onde resolveu de forma rápida e barata a questão. Porém, a outra se recusou a fazer o mesmo. Tomou um táxi e foi para uma clínica chique, noutro bairro. Ali, gastou o que não
podia, e ninguém soube que recurso foi empregado para que ela não escutasse o som da agulha penetrando em sua pele.
Diante disso, a vizinha concluiu com seus botões: Clara fora tão protegida durante a infância e tinha temperamento tão sensí vel que só poderia mesmo chegar à idade adulta cheia de peque nas – e, portanto, compreensíveis – neuroses e manias.
Solidão sempre seria para Clara um estado de alma, mas nunca a realidade. O tempo encarregava-se de preencher as lacunas, explicáveis ou não, de sua vida. De afetos ela nunca poderia sentir falta.
O segundo casamento foi uma cerimônia singela, quase secreta, testemunhada apenas pela mãe do noivo, a filha, o genro e os netos da noiva, além dos dois amigos e padrinhos, Ieda e Pedro. Clara bem que gostaria de casar-se em sua igreja, mas sendo Vinícius católico, esse desejo nem chegou a se expressar.
Depois de longa e nervosa espera, havia surgido, afinal, um convite para ele integrar a orquestra do Municipal no Rio. A pro messa fora feita a Clara há tempos, pelo diretor musical do tea tro. Mas os meses se arrastavam, dois anos se foram, o relacionamento artificial dos encontros esporádicos já preocupava os dois.
Agora, mesmo vivendo de seus pequenos ordenados, tinham uma vida em comum. Com a venda de um sítio que ele pos suía em Minas, puderam comprar o apartamento de frente para o mar – sonho de Clara, é verdade, mas que encontrou resso nância naquele homem mineral, acostumado a paisagens mais fechadas.
– Talvez o mar me ensine a ser civilizado – dizia ele brincando.
Foi um engano. Vinícius iria revelando com o tempo e no convívio diário – em casa e no trabalho – um gênio difícil, até então insuspeitado. Viveram ainda alguns anos juntos, mas bri gavam mais do que se entendiam.
– Acho que foi um erro nos casarmos! – Clara teve coragem de dizer, no meio de uma das cada vez mais frequentes discussões.
– Concordo plenamente! – berrou ele de volta. – Achei que estava apaixonado por uma mulher, mas a verdade é que eu ado rava um ídolo!
Não foi possível minimizar a dureza dessas palavras. Ferida por elas, Clara se deu conta de que o amor já vinha agonizando há muito. Estava infeliz e era preciso dar um basta. Separaram-se definitivamente um mês depois. E Vinícius voltou para sua terra, deixando-a em companhia do mar. O mar, que a atraía e acalmava, mas que não tivera o mesmo efeito sobre ele. (R A lle NTANDO )
À beira do cais de Manhattan um entre muitos casais conversa. Tratam do amor e ele engrola em anglo ítala fala algo que a espanta: – Dê-me uma filha que cante tal a mãe, com perfeição, e eu lhe dou de coração um filho artista, como o pai, instrumentista. Daisy sorri do sonho extravagante, bisonho, ri da vaidade tão ingênua mas já duvida: quem sabe o que um sonho esconde?
Ao desejo responde com terna ironia. Sim, tudo faria para dar-lhe o presente.




As primeiras luzes começam a se acender em todos os apar tamentos. Uma sensação de paz ilude momentaneamente os fre quentadores da Praça do Lido. É mesmo fugaz. O bramido ininter rupto do tráfego, que de há muito suplantou o do mar, ali tão próximo, lembra que é impossível o repouso absoluto e abençoado.
Era apenas disso que Aulo sentia vontade: descansar seu corpo esgotado de tanta luta contra a doença, respirar como qualquer criatura normal, viver como um homem de trinta e cinco anos, deixar de sentir-se inútil, vazio, um fracasso.
Clara tinha sua vida, sua carreira. É certo que o ama sim, mas com um afeto morno e acostumado. Não tem culpa, ele próprio contribuiu para isso com sua frieza de peixe. Porque todo o entu siasmo de que ainda é capaz direcionou-o para Ruth, esse sim, seu grande amor. (Mas será que ela acredita nisso?)
Caminha pela Ronald de Carvalho bem devagar, para de vez em quando, em busca de ar. (Pareço um velho... Devo estar como o que sempre fui por dentro, acho que nunca me senti jovem.) Lança um último olhar para trás, antes de dobrar a esquina: a linha do mar desapareceu na noite. (S TR i N ge NDO )
– Me beija outra vez, me beija, Aulo…
E reclina a cabeça nos ombros do rapaz, com tanta sensuali dade que até mesmo um totem estremeceria.
Ele hesita:
– Mas, sua mãe… ela pode chegar de repente – argumenta baixinho.
– Ah! – Clara recua com impaciência. – E daí? Não me importo nem um pouco! O que é que tem de mais em beijar quem a gente gosta? Olha, mamãe é de outra era, ela não pode entender nada disso.
– Mas é sua mãe, mesmo a gente não concordando com as ideias dela, tem que aceitar, por enquanto.
– Isso é que não! Só vou fazer o que eu acho que é certo, o que eu quiser fazer. Estou cansada de ser a boazinha, a obediente, Clara faz isso, Clara faz aquilo, não pode, não deve… ah, chega!
Como adolescente que se preza, aos quatorze anos estava irreconhecível: rebelde, malcriada, num azedume e má vontade de espantar. Débora anda alarmada. (E ainda mais esta agora: namorar. Uma garota que mal ficou moça e já quer independência total…)
Clara procura – e encontra – todas as formas de contestar a autoridade de Débora. A primeira foi negligenciar os estudos, passando de aluna exemplar a um dos últimos lugares da classe. Depois, foi a vez do quarto, que deixara, em pouco tempo, de ser aquele ninho róseo, que fazia a inveja das amigas na infân cia, para tornar-se algo parecido com um depósito de roupas, livros e objetos amontoados. Culminou com o desleixo pes soal, quando Clara aboliu definitivamente as roupas de luxo, as meias de seda, os penteados que mordazmente chamava de “bolos de noiva”.
Estava muito distante, no tempo, aquela tristonha menina que se exibia em praça pública para agradar a mãe. Sentia-se, agora, como obrigada a estar sempre no campo oposto ao de Débora, em alerta permanente, pronta para atacá-la ao menor descuido. Não restara à mãe senão abdicar, tanto quanto possível, da antiga energia, para não “perder” a filha por completo. (A sorte é que Aulo é um rapaz de boa família, religioso, sério. Assim mesmo tenho que ficar de olho nos dois. Cinema? Nem pensar! E também não deixo essa menina desperdiçar o tempo com as tais fotonovelas, é isso que está mudando tanto seus modos. Essa literatura barata, que só perverte.)
Pobre e ingênua Débora! Nunca soube que a filha comprava as revistas e as escondia entre o colchão e o estrado, para ler nas horas mortas da noite, quando todos dormiam. Uma vingança tola contra a opressão que, movida por seu amor excessivo, a mãe lhe impusera.
– Mãe, vou sair com Aulo.
– Onde vocês vão a essa hora?
– Ah, mãe, por que você tem que querer saber de tudo, de cada passo que eu dou? Eu já não estou tendo a consideração de avisar?
– Minha filha, não fale desse jeito. Tenho direito de saber onde você vai, sim. Eu me preocupo com você, só isso.
– Mas não precisa. Não sou nenhum bebezinho mais.
– Eu sei, claro. Mesmo assim, tenho que saber onde você anda. E se precisar de encontrá-la? Agarrava-se a qualquer tênue argumento para não ser vencida.
– Tenho certeza de que não vai precisar. Vou indo.
– Clara, você não me disse afinal para onde vai com o Aulo. Se não disser, não a deixo sair.
– Ah, é? Pois nesse caso eu fujo daqui!
A corda estava esticada ao máximo, qualquer puxão de um dos lados e romperia.
– Menina, como pode ser assim? Como pode tratar sua mãe desse jeito?
– Que jeito, mãe? Eu só quero ser livre, ser eu, ser alguém! Não aguento mais ser a sua bonequinha de luxo, o seu cachor rinho de estimação, que abana o rabinho para a dona e vai cor rendo buscar o osso que ela atirou!
(A ccelle RANDO e c R e S ce NDO )
A crueldade dessa ironia foi o golpe de misericórdia no amor -próprio de Débora, já suficientemente ferido. No calor daquele duelo, exasperou-se:
– Não posso acreditar que estou ouvindo isso de você. Logo eu, que acolhi você com tanto amor quando veio para os meus braços… Eu, que sempre cuidei de você com a maior dedicação, que lutei tanto para fazer de você a melhor das criaturas… Soluçava e falava, atropeladamente, quase sem ter consciência das palavras.
Clara havia ficado estática. Olhava para Débora com estupefação. Súbito, numa inesperada calma:
– O que foi que a senhora disse mesmo?
– Como? – fez a outra, também espantada, controlando-se.
– “Quando você veio para os meus braços” - o que quer dizer isso, mãe?
Visivelmente atrapalhada, Débora tenta escapar:
– Ah, já nem sei mais o que disse, você me deixou fora de mim… – Mas eu ouvi muito bem cada palavra. Quero saber o que isso significa, mãe.
– O que você quer saber, menina?
E fingia uma impaciência que já não era capaz de sentir, tal o pânico de ver-se apanhada numa armadilha, pavor que tomava todos os espaços de sua alma.
– Quero saber o que você quis dizer com essa história de “quando veio para os meus braços”.
Débora tenta ganhar tempo e terreno:
– Foi só força de expressão, Clara, não quis dizer nada de espe cial. Afinal, eu não falava, quando você era pequena, que veio para mim numa cesta de flores? Pois foi por isso que agora falei assim.
– Mãe, eu já estou meio grandinha para acreditar nisso, a senhora não acha?
– Eu sei, Clarinha, mas o que eu quero dizer é que me habi tuei a falar assim, que você “veio para meus braços”. É isso.
Quanto mais se esforçava para convencê-la, menos a filha acreditava nela. Apanhara no ar, na fragilidade do voo, uma men tira. Ou, quem sabe, uma verdade. Faltava medi-la por inteiro. (A ccelle RANDO S em PR e )
Com tenacidade implacável, foi acuando Débora devagarinho, minando-lhe as últimas resistências psicológicas, diminuindo cada vez mais o espaço para a defesa, bloqueando-lhe a saída. Até que se rendeu:
– Está bem, está bem! Você não é mesmo nossa filha. Você não nasceu em Maceió, como está na sua certidão, mas em Minas Gerais, e nós a adotamos quando tinha seis meses de idade e juramos a sua família que nunca iríamos revelar o segredo e que íamos cuidar de você como se fosse a nossa própria filha, e foi isso que fizemos até agora, só que você mudou muito e não reco nheceu nossos esforços, não retribuiu o amor que recebeu, não quer mais que sua mãe cuide de você com todo o carinho como a vida inteira fez…
A enxurrada ia levando de roldão todo aquele imenso entulho, onde tinham se misturado, com o tempo, o bem e o mal. O coração de Clara parece que ia boiando junto, correnteza abaixo, à deriva de umas águas desconhecidas. (D imi NU e NDO e RA lle NTANDO )
Caminha sem ver o chão, sem saber em que rua, cidade, pla neta se encontra neste momento, pois o tempo perdeu todo o significado, assim como tantas outras coisas em sua vida. Andar por que e para onde, se seus passos são o pisar de uma estranha e nova pessoa, cuja direção ignora.
(Quem são aquelas pessoas dentro daquela casa que a vida inteira chamei de pai e mãe e como vou fazer agora para chamar os dois assim e mesmo para gostar dos dois como aprendi e achei que era o único jeito de alguém gostar de pai e mãe? Aquele quarto não é mais meu por sinal nem sei o que quer mesmo dizer ter possuir assim como não sei se estou viva ou se morri se isto é um pesadelo e a vida que eu vivia era real ou se ao contrário aquilo era o sonho bom ou mau e a verda deira vida é essa sensação de morte de solidão de vazio.)
Distraidamente empurra a tranca do portão, segue através dos canteiros, abre a porta. Não vê o olhar ansioso de Débora, que chega a se erguer da poltrona, mas só a meio, paralisada pela indiferença da menina. Clara sobe para o quarto e, assim como está, atira-se na cama para cair num sono tão pesado que não a deixa sentir mais nada.
Na copa, o sol invade cada vão das persianas, coando um belo desenho geométrico no ladrilho. Os canários fazem a algazarra habitual. O pêndulo em forma de folha do relógio de cuco pros segue oscilando com a mesma cadência, como a mostrar que nada altera o curso do tempo.
Só o pesado silêncio humano, naquela hora comumente cheia de cantos e falas, indica alguma novidade. Débora toma o café de olhos baixos. Dos Anjos estranhara-lhe as pálpebras inchadas,
o ar de ausência, a tristeza tão rara nela. Adivinhou que teria alguma coisa a ver com Clara. (Eta menina que anda difícil, tadinha de Dona Débora…)
– Clara não surgiu cá embaixo ainda. Agora ela deu de dor mir até tarde, né mesmo?
– É.

– Antigamente, ela tinha horário pra tudo, né?

– Hã-hã…
– Pelo visto, ela andou judiando de seu coração de novo, né, Dona Débora?
Suspiro fundo. O cuco abre a portinhola e canta dez vezes. Silêncio novamente. O concerto dos canários. O compasso do pêndulo. O pé de Débora, tamborilando no assoalho, único indício de que algo martela seu peito, ou seu cérebro. (S TR i N ge NDO )
Clarinha, sua mãe tá chamando pra almoçar. A comida tá na mesa. Vem logo, senão esfria.
– Não vou querer almoçar hoje não – responde uma voz fraca, desusada.
– Que isso, menina? Assim cê adoece. Já não tomou café hoje cedo…
– Tá bem, Dos Anjos, então traz um prato pra mim.
– Bom, assim melhorou.
Os dias vão passando, lentos. Já tomam refeições juntas, mas não trocam palavra. Os boleros de Débora foram esquecidos. As discussões tiveram uma trégua. Clara segue sua rotina, apatica mente. Aulo anda meio sumido, desde o dia em que a namorada revelou-lhe o que descobrira. Não pareceu admirar-se. (Então ele também sabia de tudo? Só eu é que era enganada?!)
Do diálogo indispensável, Débora e Clara passam a uma troca mais ampla de assuntos. Tudo parece estar voltando aos trilhos, apesar de ainda não se ouvir “Chão de Estrelas” naquela casa. De sua parte, a garota refugia-se mais do que nunca perto da vitrola, cortinas bem fechadas, Mozart, Wagner, Verdi, Rossini por companhia.
Chega o momento, afinal, em que se sente pronta para o resto. Quer tirar a limpo sua história, que, com a ajuda da imagi nação, vai assumindo proporções folhetinescas dentro dela.
– Mãe…
Ela própria se assustou com a palavra, dita com a naturalidade de sempre, espontânea. Débora também reage, pigarreando, esticando uma invisível prega na saia.
– Mãe, quero agora saber o resto. Estou preparada para escu tar. Por favor, vê se não me esconde mais nada, tá bem?
O tom conciliatório da filha funciona como uma intimação. Não há meios de esquivar-se. Seu rosto arde. Limpa a garganta. Respira fundo.
(A ll AR g ANDO ) g RAve
– Mamanhêêê! Acorda com os dedos de Augusto a forçar-lhe as pálpebras, impaciente. O menino sorri, satisfeito de tê-la de volta. Aponta para a mamadeira vazia em cima da pia:
– Quelo, mamanhê!
Isabel tenta erguer-se. Geme. Todos, absolutamente todos os músculos de seu corpo doem. A cabeça lateja, vê círculos de luz boiando na retina. Os nervos recusam-se a transmitir o comando do cérebro. Súbito, a recordação de tudo o que acabara de acontecer – há quanto tempo seria? – atinge-a como uma pancada na nuca. Num gesto instintivo, ainda deitada, conserta a saia.
Para quê? Augusto nem olha para ela, entretido com uma caravana de formigas que acabara de encontrar, entrando no rodapé. E mesmo que estivesse olhando, entenderia? (Felizmente, os gêmeos estão de cama, coitados. Só assim escaparam de presenciar tudo. Meu Deus, o que foi me acontecer? Que desgraça… loucura, completa loucura!…)
Rompe num choro espasmódico, tremendo à lembrança das últimas horas. O relógio bate agora cinco vezes. Tão pouco tempo havia se passado e sentia como se fossem anos. Ficara velha por dentro.
Bernardo não vai diretamente para casa. Eleonor leria em seu rosto o transtorno. Faria perguntas. Ele não aguentaria o peso do remorso. Não naquele momento. Vai até um botequim, em bairro bem afastado, e encharca-se de pinga. Até que ao entorpe
cimento do corpo sobrevenha o embotamento do espírito e pare de pensar – seja por minutos –, em seus últimos atos.
Eleonor põe de lado as lãs, espicha o braço, afasta a cortina e confere as janelas da casa fronteira: tudo calmo. (Isabel deve estar descansando, coitada. E Bernardo, onde andará? Bom, hoje é domingo, talvez tenha ido até a casa do Álvaro. Eles falaram que a banda precisa ensaiar para a festa da fundação. Ainda bem que Bernardo gosta de tocar, senão ia fazer o que nas horas de folga? Não tem jeito pra nada!)
A comida já esfriou outra vez nas panelas. As crianças janta ram sozinhas, estão na cama. Eleonor, desassossegada com essa demora, esteve em casa de Isabel, para saber notícias dos doentinhos. Achou a vizinha tão abatida! E o Bernardo, tinha passado por lá como prometera? (Engraçado, se foi embora tão depressa, onde andaria até agora? A pobre da Isabel está precisando mesmo de repouso, tão pálida, de olheiras…)
(A ccelle RANDO )
A NDANT e
– Jaime, acho que estou esperando.
– Ahn? Que foi que disseste?
– É, acho que vem mais um neném por aí.
– Mas tu me dás essa notícia, assim, sem entusiasmo? Isso é caso pra comemorar!
Abraça a mulher com força.
– Quando foi que tu desconfiaste?
– Por esses dias. Era para as regras já terem vindo. E não vie ram. Além do mais, comecei a ficar enjoada, sem apetite. Aquele vestido largo que eu gosto de usar quando vou mexer na horta, fui pôr, e está meio apertado. Então eu vi que não era outra coisa…
– Só não estou entendendo é esse teu jeito, assim, desanimado.
– Não é nada não, Jaime, deve ser do enjoo. Está muito forte…
– Vamos chamar a Eleonor e o Bernardo para dar a boa nova?
– Não, não! É que… eu acho que está meio tarde, pode ser que eles já estejam deitados.
– É, tens razão. Fica para amanhã. Mas eu estou feliz mesmo! Será que dessa vez vem uma menina?
Jaime vem percebendo uma sutil mudança no comporta mento da mulher. Mais ensimesmada do que sempre foi, tris tonha e, sempre que pode, evitando-o quando a procura. Isso, desde que ele voltara de viagem. Seria por causa da gravidez?
Zuleika e Argemiro frequentavam com certa assiduidade a casa de Jaime. Ela era sua parenta, pelo lado do pai, e Argemiro, muito falante, bom garfo e bom copo, gostava de conviver. E ambos eram adventistas também.
Surpreenderam-se, entretanto, com a visita de Isabel. Muito retraída, muito caseira, ela recebia mais do que procurava os amigos. Além disso, eram chegados ao marido, não tanto a ela. Foram, porém, acolhedores.
– Que honra, vamos entrar! – foi exagerando Argemiro. –Senta, Isabel, vou chamar Zuleika.
– Cadê o Jaime? – estranha ela, depois de sentar-se também.
– Viajou de novo. Volta mês que vem.
– E você, como está passando? Já está bem grandinha, hein? É pra setembro, não é?
– Outubro. Mais provável em outubro.
Silêncio constrangedor. Isabel torce a bainha do vestido, sem
perceber. Perdeu a coragem? Argemiro procura um assunto, mas trata-se de uma mulher, e que ele conhece muito mal... Olha para Zuleika, como a pedir socorro.
– Seus avós ainda estão vivos?
A pergunta salvadora é tão descabida ali que Isabel se espanta.
– Só minha avó. O vô morreu pouco depois que eu me casei – emudece novamente. (Quando ela sair daqui, esse vestido vai ficar com uma ponta na frente. Por que será que está tão nervosa? Por que será que nos procurou?)
Da forma abrupta com que as pessoas se expressam quando estão embaraçadas demais, Isabel, afinal, desabafa:
– Estou precisando muito da ajuda de vocês. Como conhe cem bem o Jaime, é possível que possam me aconselhar melhor. Estou completamente desarvorada, não sei o que fazer!
– Pois fale, Isabel, vamos fazer o que for possível para aju dar você – encoraja Zuleika, que olha significativamente para o marido.
Esperam, curiosos.
– Beeem… é que me aconteceu uma desgraça. Nem sei por onde começar. Tenho tanta vergonha!…
Um soluço a impede de prosseguir.
O casal se remexe no sofá. Situação incômoda.
Sem olhar para eles, narra a muito custo o que lhe acontecera seis meses antes. Quando termina, as lágrimas escorrem à vontade pelo rosto murcho, murcho demais para seus vinte e poucos anos.
Argemiro e Zuleika parecem ter levado um choque. Não são ainda capazes de articular uma frase. Condoída, a mulher, afinal, quebra o mal-estar:
– E o que você está pensando fazer, Isabel?
– É justamente isso que eu não sei! Não tive coragem de contar a ele. O tempo foi passando e eu cada vez mais sem jeito. Como se tivesse culpa de alguma coisa! E não tenho, não tenho mesmo.
Os dois entreolham-se, talvez descrentes. E Argemiro:
– Mas, e este filho, não será mesmo filho de Jaime?
– Não, não pode ser… Baixa os olhos, encabulada.
– Esse é que é o meu maior sofrimento. Eu tenho certeza de que não é dele. Meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? – geme em desespero. – Como eu vou fazer para ele acreditar que o que aconteceu foi só isso, que foi só uma vez, que eu não que ria, que eu lutei com todas as forças para fugir daquele homem?
Zuleika lembra-se, então, da forte amizade deles com os vizi nhos e pergunta:
– E como ficou o convívio com aquela família depois disso?
– Bem, no começo eu nem podia pensar neles. A coitada da Eleonor continuou me procurando, me ajudando muito, como sempre fez. Eu tive que aceitar, fingir que não tinha acontecido nada, pois ela não parecia desconfiada de coisa nenhuma. Como eu tenho esse jeito mesmo, quieta no meu canto, acho que ela não estranhou o afastamento. Ele só vai lá em casa com ela. Sozi nho, nunca mais. Não consigo nem olhar para ele. Não sei se ela vai acabar notando.
Os três ficam pensativos por algum tempo, ruminando. Zuleika pensa mais rápido, é mais resoluta:
– Sabe, Isabel, o que eu faria se estivesse no seu lugar? Pois continuaria quieta, não contaria nada pro Jaime, nem pra nin guém. Deixa isso morrer. Você não teve culpa, não é? Foi um acidente. Foi como tirar na loteria.
– E você chama isso de sorte? – Argemiro não se dá conta da crueldade dessa ironia. Quando percebe a gafe, pigarreia descon certado e se desculpa. Mas Isabel aceita a comparação de Zuleika:
– Ela tem razão, a possibilidade de engravidar era muito reduzida. Não fosse por saber que sou responsável pela vida que está aqui dentro, nem sei, acho que já teria feito uma doideira qualquer… É triste demais gerar uma criança que não veio do amor da gente…
– Não pense assim, que fica mais difícil – conforta a outra. –Você não tinha amor por ele, mas vai ter pelo neném, igual ao que teve pelos outros filhos. Isso é que interessa.
– Vocês acham, então, que eu devo esconder a verdade?
– Eu acho.
Zuleika é categórica. Argemiro permanece calado, não diz sim nem não. Parece concordar.
Quando Clara completou dois meses de vida, Jaime veio com uma proposta:
– Isabel, vamos fazer uma festa? Estou tão feliz de ter sido uma menina! Quero que todo mundo comemore conosco.
– Olha que os meninos vão ficar com ciúmes…
– Vão nada! São muito pequenos para entender dessas coisas e vão até gostar. Pode deixar que eu te ajudo a preparar tudo.
Uma boa parte dos habitantes de Conselheiro Barbacena compareceu. A casinha da rua Doutor Crispim mal comportava tanta gente. Várias mesas haviam sido enfileiradas no quintal, onde o espaço era maior, e cobertas com três ou quatro toalhas compridas, tomadas de empréstimo. Sobre elas, centenas de salgados e docinhos, feitos por Isabel, sua empregada e dona Espe-
rança, quituteira emérita da cidade. Muito frango assado, tutu, farofa, arroz branquinho, refrescos. E, para animar a festa, os dois melhores violeiros do lugar e um acordeonista de Goiás, por acaso passando uns dias ali. Muita dança, muito riso madrugada afora. Uma comemoração da melhor qualidade para os padrões simples daquela época e daquela gente.

As lembranças daquele dia, o regozijo de Jaime, as distrações de seu cotidiano atribulado, tudo isso parecia amortecer no cora ção de Isabel os gritos da consciência. Além do mais, era linda a sua menina, com aquela pele tão clarinha, tão de acordo com o nome que haviam escolhido. Como era bom apertá-la contra o peito, dar-lhe de mamar, sentir-lhe o cheiro tenro dos recém-nascidos… Esses momentos eram o seu bálsamo, os únicos de paz perfeita, entre os restantes e intermináveis minutos de dúvida, medo, dor.
Parece que pressentira. Naquele dia levantou da cama aca brunhada por uma angústia maior que a habitual. Tudo correu sem novidades até o jantar, quando percebeu na cara esquisita de Jaime o sinal de tempestade.
Depois que as crianças estavam acomodadas para dormir, fechou-se com ela no quarto e explodiu. Argemiro acabara de lhe contar tudo. Como tinha tido coragem de esconder dele uma tal ignomínia?
Longas horas passaram os dois falando e calando, mergu lhando até o fundo de sua infelicidade. A vida de Isabel não era o que ela sonhara? Que culpa tinha ele se o seu ganha-pão era esse, vivendo na estrada? Teria sido por sentir-se sozinha? Mas, e ele, não pagava um alto preço, tendo que amargar saudades da família?
Isabel refutou todas as insinuações, assim como se defen deu das acusações mais diretas: não era completamente feliz ali, naquela cidadezinha, não. Gostaria de morar num lugar maior, onde pudesse ser alguém e não apenas uma apagada mãe de família. Mas amava Jaime e, se sofrera tudo calada, fora em nome desse amor.
Quando o dia clareava, ambos exaustos e sonolentos, ele encerrou a questão:
– Eu aceito as tuas explicações, Isabel, vou fazer força para esquecer tudo isso. Se Deus me ajudar, com o tempo eu esqueço. Agora, para que isso aconteça, eu não vou mais poder olhar para essa menina. Não quero nem vê-la mais. Vou dar um jeito nisso. Isabel estava perplexa:
– Mas ela é minha filha, nasceu de mim!
– Gerada por um ato vergonhoso, que tu também tens que esquecer. Eu não a quero mais, de jeito nenhum. De modo que tu escolhes: ou ficas comigo e com os nossos verdadeiros filhos, ou ficas com ela, mas longe de nós. ( m OR e NDO )
T RAN q U ill OÀ medida que Débora ia puxando os fios do passado e tecendo para Clara sua história, esta sentia-se invadir por uma profunda paz. Conhecia agora a sua origem e não a considerava humilhante nem desonrosa. Começava a saber quem era, a tomar posse de uma certa identidade. Quanto mais pensava em cada uma dessas criaturas que, de uma ou de outra maneira, estavam envolvidas na trama, mais experimentava sentimentos apazigua dores. Sua mãe? Digna de pena, muita pena. Seu pai? Um infeliz que a paixão fizera estúpido. Fora rejeitada? Em parte: e o amor dos que a haviam adotado?
A realidade já não a assustava tanto quanto os quadros que a imaginação pintara em sua mente. Conseguiu olhar para Débora com os olhos antigos, de filha amiga, e nesse instante teve a exata noção do quanto sofrera também sua mãe adotiva. Tomou -lhe uma das mãos, beijou e, com sincera ternura na voz, pediu: – Agora me conta o resto, mamãe. Débora temera muito o momento dessa revelação. Na inse gurança de sua posição vulnerável, tinha medo de que a filha
fosse preferir a mãe verdadeira. Agora estava aliviada. Livrara-se da carga daquele segredo e, por outro lado, ali estava sua Cla rinha de sempre, sua menininha carinhosa dos outros tempos. Prosseguiu, pois, com novo ânimo.
Contou como fora difícil para ela e marido ocultarem dos vizinhos, parentes e amigos a origem de Clara. Somente um cír culo fechado de adventistas soube logo da verdade, porque seria necessária a sua ajuda para cumprir os desejos de Jaime. Graças ao pastor Aloísio, muito ligado à comunidade de São Paulo, foi possível descobrir um casal de alagoanos que desejava ardentemente ter filhos: todas as suas tentativas sempre terminavam em aborto. Débora e Nestor trataram de providenciar, por intermédio de um cunhado que residia em Maceió, nova certidão de nas cimento para a menina. Em meados de março de 1948, o bebê, com seis meses apenas, era entregue a eles, pelas mãos de uma irmã paulista cujo nome nunca esqueceram: Beatriz.
– O que foi feito com a certidão verdadeira? O que eles inventaram para justificar meu sumiço? Como ficou minha mãe depois disso?
Débora não sabia de detalhes. Sabia, sim, que alguma intriga muito séria fora armada pela intransigência de Jaime.
– Ele deve ter dado seus jeitos, porque, àquela altura, dizem, já era homem de algumas posses. Mas isso são coisas que só ouvi dizer, por alto. Agora, quanto a Isabel, eu sei que a coitada passou um mau pedaço. Falaram que ela acabou indo para um dos nossos institutos, fazer um retiro espiritual. Parece que estava em tempo de enlouquecer com todo esse sofrimento, melhor era descansar um pouco sob a proteção de Deus. Foi isso que deu força a ela para superar tudo. Na volta, ela não quis mais ficar em Conselheiro Barbacena. Mudaram para Belo Horizonte. ( c A l ANDO )
– Você gostaria de conhecer papai agora, Clara?
Olha para Leandro pensativa, depois para o mar, como se consultando nas ondas a resposta. Caminham lado a lado, no calçadão em frente ao apartamento onde ela passou a viver sozi nha, pois Ruth casou-se, dois anos atrás.
Os irmãos nunca mais a deixaram sem notícias. Por telefone, carta e até pessoalmente, como agora, sempre davam um jeito de manter contato. Seu amor por ela é mesmo definitivo e confortador.
Leandro começou a gostar de Consuelo desde a viagem em que a levara ao Rio, para conhecer a irmã. No trajeto, tiveram tempo de descobrir afinidades. Depois, ela se mudara para São Paulo, onde faria um curso de pós-graduação. Tudo concorrera para um relacionamento mais profundo.
– Faço questão de cantar nesse casamento – Clara prometera aos dois, assim que anunciaram o noivado.
Ouvia agora, mais uma vez, a pergunta feita em outras oca siões. Até então sempre se considerara despreparada para o encontro com Bernardo. Talvez tivesse chegado o momento.
– Gostaria sim – responde afinal. – Quando você voltar, vou junto. e SPR e SS iv O
Olhou para aquele homenzarrão à sua frente: cabelos pretos ondulados, com raros fios cor de prata, o mesmo brilho e textura dos seus; olhos de um castanho profundo, grandes e redondos. Uma boca bem desenhada, o queixo voluntarioso, lembrava bas tante Leandro. (Então se parece comigo. Só o tom da pele é outro, mais moreno.)
A emoção de Bernardo transbordava por todos os seus poros, literalmente, num suor frio que começou a se anunciar pela testa. Gaguejou:
– Cla-Cla-Clara? Minha filha…
Assim como aconteceria depois, ao conhecer a mãe, ela se controla ao máximo. Trata-o como se fosse encontro profissional com algum desconhecido.
– Como vai, Bernardo?
Nada de cenas arrebatadoras, abraços, lágrimas de arrependi mento e perdão. Isso era para os filmes.
– Queria tanto ver você! – diz ele, apesar da ducha fria.
– Há quanto tempo está de volta ao Brasil? – ela evita o ter reno mais escorregadio, por enquanto.
– Fiquei dezoito anos na Alemanha. Mas não me acostumei. Sentia falta de tudo e de todos.
– Voltou a ver Eleonor?
– Não – baixa os olhos, entristecido. – Ela não quis mais se encontrar comigo. Mandou dizer que estou perdoado, mas que já não existe lugar para mim na sua vida. Tem razão, depois de tanto tempo, o que eu podia querer?
– E Isabel, você nunca teve vontade de vê-la?
– Jamais pude me esquecer dela, Clara. Minha filha, quero lhe contar tudo, quero me abrir com você hoje. Posso?
Não adiantava desviar-se. Além do mais, que outro assunto tinham os dois em comum senão o passado? Já que viera, precisava ir até o fim. Clara concorda com a cabeça. Não sorri.
– Eu sei que fui um canalha – continua Bernardo. – Maltratei a mulher que me amava. E fiz muito pior com aquela por quem me apaixonei. Eu estava louco de amor mesmo. Alucinado. Tive a ingenuidade de pensar que ela correspondia. E me enganei.
Mas não sei o que me aconteceu: não consegui parar, depois de ter começado. Quanto mais ela me recusava, mais atiçava meu desejo, minha paixão. Perdi a cabeça. Chorava. As lembranças voltavam a esmagá-lo. (R A lle NTANDO )
– Depois, quando caí em mim, já era tarde. Chafurdei na bebida naquele dia… Imagine, eu, um adventista convicto! Estava mesmo desesperado. Voltei tarde pra casa. Eleonor deve ter estranhado muito, mas aceitou minhas desculpas esfarrapa das. Fomos vivendo. Eu, roído de remorso, com vergonha de todos e principalmente de mim mesmo. Evitei ver Isabel. Não sei como as pessoas não notaram aquele afastamento. O tempo passou, você nasceu e logo depois nasceu o Leandro também. Eu não tinha a menor ideia de que acabara de ganhar dois filhos. Isabel não tinha voltado a falar comigo, como podia adivinhar? De repente, tudo desaba: as pessoas com quem ela se aconse lhou durante a gravidez contaram para o Jaime. Já não era possí vel ignorar, nós éramos amigos demais, ele fechou a porta para minha família, e Eleonor teve que saber da verdade. Foi terrível! Fiquei mais desesperado ainda. Fui procurar Isabel e, assim que pude estar a sós com ela, propus fugirmos para fora do Brasil, levando você, para começar outra vida. Ela parecia estar diante de um verme, tal o horror com que me olhava. Não me tratou mal, mas foi pior: disse que nunca me quisera, que não escolhera essa situação, que não podia abandonar Jaime nem os outros filhos. Eleonor não me dirigiu mais uma única palavra. Era como se eu não existisse. O que eu podia fazer ali? Por isso decidi ir embora do país.
– E lá na Alemanha, você recomeçou a vida?
– Só profissionalmente. Consegui um emprego como repre sentante de peças de automóveis. Fiquei na mesma companhia aqueles anos todos. No princípio, morava num quartinho mise rável, alugado. Com o tempo, fui subindo na firma, pude viver melhor. Mas nunca tive vontade de formar uma nova família. Fiquei com medo de meu coração fazer outra falseta. De vez em quando, escrevia para meus filhos e, assim que pude, comecei a mandar um dinheirinho. Não sei se valeu de alguma coisa. (A ccelle RANDO PO c O A PO c O )

Silenciaram durante uns minutos. Clara se levanta:
– Quer um café? – ela procura tenta apaziguar um pouco o sofrimento do pai. – Faço num instante.
Bernardo aceita. Fica na sala fumando, e Clara vai para a cozi nha. Estavam no apartamento de Leandro, que discretamente saíra, a pretexto de fazer uma visita ou cortar cabelo ou qualquer coisa que os deixasse por um bom tempo sozinhos.
Enquanto a água ferve, Clara, distraída com seus pensamen tos, cantarola uma ária. Prossegue cantando até voltar à sala com a bandeja e encontrar Bernardo em prantos na poltrona. Pensa que ele ainda sofre os efeitos da recente confissão, mas a causa é outra:
– É impressionante, você tem a mesma voz da tia Clara! A coincidência não está só no nome…
– E quem é ela?
– Já morreu. Era irmã de meu pai. Você deve saber, nasci numa família musical. Minha mãe era uma cantora americana de blues, nasceu e viveu em Nova York, até meu pai aparecer por lá. Ele era judeu italiano: Carlo Amati, era o seu nome. Tocava clarinete e ficou louquinho por ela.
Contam que ele fez a seguinte proposta quando ainda esta vam noivos: se ela lhe desse uma filha cantora, daria a ela, em troca, um filho músico, como ele. A brincadeira deu certo, em parte, pois eu, bem ou mal, toco um instrumento – o trompete. E ela cumpriu sua promessa duas gerações depois, com muito mais capricho, através de você… Os dois casaram-se e resolve ram emigrar para o Brasil, ele não ia ter muitas chances por lá. Era fabricante de vinho em sua terra, achou que aqui poderia prosperar: em Minas Gerais abriu uma fábrica de queijos para aproveitar a matéria-prima abundante e nisso é que se estabeleceu. Os dois viveram bastante, a tempo de conhecer dois netos.
Clara percebeu como seu pai tinha facilidade para envolver as pessoas com seus casos. Bem que os irmãos haviam falado desse talento de contador de histórias. E as narrava com tal graça que, mesmo o tema sendo grave ou triste, em sua boca adquiria um colorido mais ameno.
– Filha – diz ele, ficando subitamente sério. – Quero lhe pedir uma coisa. Quero o seu perdão.
– Não há o que perdoar, Bernardo. Graças a Deus, eu tive uma família, que me deu muito amor. Acho que outras pessoas, sim, teriam de perdoá-lo, não eu.
– Bem, Clara, o perdão de Deus eu tenho certeza de que já tenho. Quando estava na Europa, naquele começo, cheio de amargura, resolvi fazer uma penitência. Encontrei uma figueira, nos arredores da cidade onde fui morar, e passei um dia inteiro lá, ajoelhado debaixo daquela árvore, implorando ao Pai que me perdoasse. No fim do dia eu me levantei mais aliviado. Tive a certeza de que Ele me escutou e me absolveu.
Naquele dia, depois que Bernardo se foi, uma coisa intrigava Clara: por que debaixo de uma figueira? Anos mais tarde, leu uma versão do suicídio de Judas, segundo a qual ele se enforcara amarrando a corda ao ramo de uma figueira. Concluiu que essa árvore deve ter se tornado, a partir dai, símbolo de punição.
( c A l ANDO )
l e NTO
Uma ou duas vezes ainda viu o pai. Um dia, ele pediu a Júlio que o levasse ao médico, queixando-se de canseira, dificuldades para respirar. Terminado o exame, o doutor conversa com o filho reservadamente:
– Há quanto tempo seu pai vem manifestando esses sintomas?
– Esta semana, há uns quatro dias…
– É inacreditável, Júlio… Sinto dar-lhe essa notícia, mas os pulmões do Bernardo estão completamente tomados por um câncer. Ele é tão forte que o resto do organismo conseguiu rea gir até agora. Mas breve não vai aguentar mais. É uma pena, um homem com esta energia toda!…
Bernardo aguardava Júlio na sala de espera. Uma vez fora do consultório, interroga o filho:
– Ele chamou você de parte para falar que estou com os dias contados, não foi?
– De onde o senhor tirou essa ideia maluca, pai? – finge o outro.
– Você não me engana, Júlio. Eu sei que é o fim da canção.
Um mês depois, falecia.
Estava saindo para o teatro quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz arrastada de Dos Anjos era um mau prenúncio:
– Clarinha? Ô, minha filha, tô te ligando porque sua mãe parece que está bem piorzinha…
– Vou só avisar o pessoal do coro e já, já estou aí! – respondeu Clara, aflita. Débora, já perto dos setenta e depois de duas pneu monias, não era mais a mulher forte de outros tempos. Ulti mamente, vivia de cama. E nunca admitira ser internada: – Por favor, gente – dissera há muito tempo ao marido e a Clara – no dia que eu adoecer pra valer, não me levem para nenhum hospi tal! Quero morrer na minha casa…
Sentada ao lado dela, segurando-lhe a mão, a filha compre endia que esse fim estava próximo. Débora, que tinha cochilado, abriu os olhos e disse fracamente:
– Você compreendeu mesmo que tudo o que fizemos foi para o seu bem, filha? Estou perdoada?
– Mãe, eu só tenho que agradecer a vocês! Não me fale mais em perdão, por favor! Você foi e será para sempre a única pessoa que posso chamar de mãe – acrescentou, a voz emocionada.
Aquele seria o último diálogo entre as duas. Débora faleceu três dias depois, sempre com a filha de seu coração firme à cabeceira.
Clara sentia que, pouco a pouco, os principais protagonistas de seu enredo estavam saindo de cena. Mas, em lugar de sentir -se só e infeliz, ela experimentava uma paz crescente à medida que o passado morria com eles.
Quando Ruth já era mocinha, Isabel escreveu à neta uma longa carta, em que pedia fosse intermediária junto à mãe, para um pedido de perdão.
Finalizava dizendo: “Ruth querida, são estas as minhas razões, e você já tem idade suficiente para entendê-las. Se julgar que mereço o perdão de Clara, por favor, interceda por mim e diga a ela que estou esperando. Deus queira que minha filha me atenda. Eu sei que, no fundo, ela duvida de meu amor… O que posso fazer agora para provar que ele existe, que nunca deixou de existir? Querida, desculpe sua avó por lhe dar missão tão difícil e ingrata, mas, infelizmente não tenho outra pessoa a quem recorrer. Toda a saudade e todo carinho da sua Isabel.”
Clara escutou a filha, depois leu a carta e, por telefone mesmo, resolveu a questão: – Isabel? Recebi seu recado pela Ruth. Já lhe disse uma vez e torno a dizer – nada tenho que lhe perdoar.
– Minha filha, sinto que você não fala de todo o coração. E é com ele que eu gostaria que me perdoasse.
– Você só ficará satisfeita se eu disser “eu perdoo”, não é isso? – É…
– Pois eu digo, de coração: “Eu perdoo você, Isabel”.
– ...
– Isabel? Isabel?
– Obrigada, filha, muito obrigada…
Meses mais tarde, toca o telefone e Ruth, que atendera, vem chamar a mãe.
– É de Belo Horizonte, pra você.
Era um dos gêmeos, que chamava Clara com urgência para junto da mãe. Ela vinha acabando aos poucos, devorada por uma doença óssea que a deixara entrevada.
Consuelo estava ausente, viajando com Leandro pelo México, onde ele participava de uma exposição itinerante de artistas lati no-americanos. Haviam se casado dois anos antes, para alegria de Clara que, conforme prometera, cantou na cerimônia religiosa.
Isabel piorara muito rapidamente e, com certeza, Consuelo não voltaria a tempo de vê-la com vida. Clara chegou quatro horas depois do chamado de Rubens. Apesar da penumbra do quarto, pode constatar o quanto sua mãe envelhecera desde o encontro anterior. Muito magra, sem cor, longe de ser aquela mulher tristonha, porém muito bonita, que um dia abrira a porta da casa para Clara.
Mais uma vez, a piedade confrange o seu coração. Isabel segura as mãos da filha e só a solta após um último estremeci mento. Morre suavemente, tendo à cabeceira, por ironia, a filha de cujo convívio nunca usufruiu.
( c A l ANDO )
O burburinho da rodoviária intensifica-se nesse começo de férias. Levando consigo apenas a sacola com roupa suficiente para uma semana, Clara dispensa a ajuda de Ruth, que caminha preocupada a seu lado.
– Mãe, você tem certeza de que quer mesmo fazer isso? Não vai ser muito doído pra você?
– Não, Ruth, estou bem, muito bem. Ou não foi você quem falou que tem notado a minha transformação nesses últimos anos?
– Daí a achar que vai ser fácil é uma grande distância…
– Eu sei, mas preciso levar esse último tranco, filha. Aí, não faltará mais nada para eu ser dona de mim.
Carlos, que caminha atrás das duas com as crianças, vem oferecer um chiclete, encerrando o assunto entre mãe e filha. Chegam à plataforma, onde o ônibus já aguarda com o bagageiro aberto. Mais quinze minutos, e Clara está em sua poltrona, de onde dá um último adeus.
– Não demora, vó – suplica Luísa, choramingando.
– Cuida bem de você, viu, mãe? Estou gostando de ver sua força. Nota dez!
O ônibus ronca e vai saindo lentamente, pesadão. Até Con selheiro Barbacena são cinco horas de viagem. Clara reclina o encosto e prepara-se para cair no sono, como sempre faz.
A viagem mais longa lhe daria tempo suficiente para rebobi nar as emoções que culminaram naquela decisão de ir até o fim. O que estava, de fato, por trás disso? Desejo de vingança? Encarar sua própria verdade? Ainda não sabia ao certo… E, lentamente, na modorra em que caíra, provocada pelo sacolejar ritmado do ônibus, memórias de sentimentos quase apagados retornam.
Caminha sem ver o chão, sem saber em que rua, cidade, pla neta se encontra neste momento, pois o tempo perdeu todo o significado, assim como tantas outras coisas em sua vida. Andar por que e para onde se seus passos são o pisar de uma estranha e nova pessoa, cuja direção ignora?
(Meu cabelo continua sendo escuro minha pele ainda é igual a leite como diz mamãe aliás quem é mesmo mamãe? sou ou fui uma garota inteligente sensível estudiosa meiga tudo o que uma mãe pode desejar de uma filha acontece que já não sei mais o que significa a palavra filha nem a palavra mãe.)
(Quem são aquelas pessoas dentro daquela casa que a vida inteira chamei de pai e de mãe e como vou fazer agora para chamar os dois assim e mesmo para gostar dos dois como aprendi e achei que era o único jeito de alguém gostar de pai e mãe? aquele quarto não é mais meu por sinal nem sei o que quer mesmo dizer ter possuir assim como não sei se estou viva ou se morri se isto é um pesadelo e a vida que vivia era real ou se ao contrário aquilo era o sonho bom ou mau e a verdadeira vida é esta sensação de morte de solidão de vazio.)
(Não consigo entender por que fizeram isso comigo por que me esconderam essa história toda com certeza porque aconteceu alguma coisa muito séria e muito vergonhosa com meus pais ou talvez minha mãe fosse uma prostituta ou quem sabe eles eram tão pobres que nem podiam me criar mesmo e tiveram que me dar para outros de melhor condição mas então quem são estes dois que eu pensava que conhecia como a palma de minha mão o que foi que fizeram antes de me rece ber o que sentem realmente por mim se não sou do seu sangue se não nasci do seu amor ou do seu desejo?)
(Não posso voltar para lá ali não é nem nunca foi meu lugar eu bem que pressentia isso eu bem que sempre desconfiei dessas minhas unhas assim redondinhas e curvas ao passo que as dela são esquisitas daquele jeito viradas para cima cur tíssimas e também o cabelo todo crespo enquanto o meu é liso e papai quer dizer aquele homem chamado Nestor moreno como ele só e eu essa brancura toda sabia que alguma coisa não estava bem contada que eles tinham segredos pra mim eu percebia como trocavam olhares quando eu perguntava por exemplo como foi que eu nasci boba de mim acreditar naquela história de ter brotado junto com margaridas se bem que acho que não vou conseguir nunca deixar de gostar delas acho que nasci foi bem no meio de espinheiros como aqueles que cobriram o castelo da Bela Adormecida e eles me tiraram de lá e me curaram dos arranhões mas não conseguiram apa gar as marcas.)
(Chega, chega não quero ouvir mais nada não quero saber de mais nada não quero ter que amar ninguém nem quero que me digam por obrigação filhinha te adoro não quero ser filhinha não quero não quero…) (A ccelle RANDO )
A NDANT e Analisa a fisionomia antipática do homem balofo sentado à sua frente.
Ele ajeita a capa de plástico do sofá, depois tira um cisco do olho esquerdo, coça atrás da orelha, examina as unhas, ganha tempo, enfim, à procura de uma saída.
Ela espera com toda a paciência do mundo. Dispõe-se a auxiliá-lo.
– Dr. Capanema – a menção do nome o faz tremer novamente.
– Quando eu resolvi vir até aqui foi porque já tinha pesado todos os prós e os contras de saber a verdade integral. Cheguei à con clusão de que não tenho nada a ganhar, a não ser paz. Por outro lado, nada tenho a perder também.
O senhor deve estar pensando: “Quem será essa que conhece meu nome verdadeiro?” Vamos esclarecer isso já. No Rio de Janeiro, onde eu moro, sou muito conhecida, sabe? Aliás, sou famosa em todo o Brasil e até no exterior.
Sentia agora um certo prazer em constatar o medo tomando conta do velho, insidiosamente, ante aquela ameaça indireta de ser desmascarado.
– Se o senhor se der o trabalho de ler algum jornal carioca, de vez em quando, vai saber muito a meu respeito. Sou cantora lírica, e hoje a crítica me considera uma das maiores vozes brasileiras. Meu nome artístico é Clara Sprenger. Mas isso não deve significar nada para o senhor. Na minha certidão de nascimento sou Clara Lima Furtado. Também não lhe soa nem um pouco familiar, não é verdade? Bem, doutor, acontece que a certidão é falsa, forjada. Agora viu pulsarem veias nas têmporas dele.
– Nesse registro “legítimo” – ela acentua ironicamente a pala vra – sou Clara Santa Cruz Aleixo. Isso mesmo, tenho certeza de que o senhor agora se recorda: filha de Isabel e Jaime. O senhor era médico da família ou estou enganada?
O outro confirma com a cabeça, mudo, engasgado.
– Pois bem, então não é preciso contar muitos pormenores, o senhor os conhece melhor até que eu e que a maioria das pes soas a quem pedi informações.
Faz uma pausa quase teatral, como para acirrar o mal-estar do outro.
– Antes de o senhor me contar esses detalhes que eu não conheço, quero lhe dizer duas ou três coisinhas. Eu não sabia,
quando vim terminar minha investigação, qual tinha sido o estratagema inventado por Jaime para se livrar de mim. Apenas supunha, pela lógica, que, para me fazer “nascer” noutro estado do Brasil, filha de outro casal, era preciso que eu “morresse” primeiro, em Conselheiro Barbacena. Foi a primeira confirma ção que tive, quando cheguei lá. Vi com meus próprios olhos a sepultura pequenina e me dei conta da monstruosidade dessa farsa. O senhor já tentou, ao menos em sua imaginação, fazer uma ideia do que seja contemplar seu próprio túmulo? Nem queira fazer, Dr. Capanema, seria muito sofrido para o senhor... Agora, a ironia é mais consciente, objetiva, uma deliberada, ainda que diminuta, vingança.
(S TR i N ge NDO ) A lleg RO m OD e RATO– Fiz tudo para apurar como foi montada toda essa encenação, doutor, mas avancei muito pouco. Algumas pessoas já não existem mais; outras, eu penso que nunca existiram. De modo que praticamente restou o senhor. Não quero me prevalecer da fama que tenho para nenhuma retaliação. Não sou Deus, não faço justiça. O senhor pode ver que consegui sobreviver a tudo isso e estou aqui, realizada e inteira. O problema é que sou curiosa, sabe? E, além disso, acho que tenho direito à verdade: afinal, é minha própria vida! Então, o senhor pode ficar tranquilo que não pretendo “cobrar os prejuízos”. Basta que me dê o seu depoimento, sincera e honestamente.
Moacyr passou por várias fases durante a narração de Clara. Fingimento, falsa indignação, temor, vexame, os mais diversos estados de espírito iam se estampando nele, como numa tela de cinema. Quando ela se calou, restavam apenas dois sentimentos: a segurança que lhe fora devolvida e, no polo oposto, um grande
pesar pela miséria de tudo aquilo. Não que se julgasse um cri minoso comum. Mas havia sido venal, e a importância de seu papel para o sucesso da tramoia tornara essa venalidade muito mais difícil de encarar. Restava-lhe, como consolo, esse pequeno resquício de consciência.
– Foi o Jaime quem idealizou tudo – começa ele, covarde mente. – Era ele quem fazia questão de abafar o caso, custasse o que custasse. Porque, a depender da coitada da Isabel, acho que a menina, quer dizer, você, ainda estaria naquela casa até hoje. Mas ele impôs uma escolha, ela não teve outro jeito. Então me procurou, pedindo uma sugestão, uma ajuda. Eu disse: - “Antes de mais nada, vocês têm que providenciar outra família para ela. Ninguém vai transformar essa inocente num Moisés, não é mesmo?” (Agora ele posa de bonzinho!…) O Jaime concor dou, ia procurar um lar para ela. Mas como iriam dá-la, assim, de presente, sem despertar suspeitas em ninguém? Parafusamos horas e horas e não encontramos outra saída: era preciso simular a morte. Bom, para isso, tinha que haver o atestado de óbito, o enterro, o registro em cartório. Era necessário, enfim, convencer uma porção de pessoas a participar da história. Isso é difícil, a senhora deve imaginar…
Hesitava agora em prosseguir. O que ainda lhe sobrava de brio travava sua língua para não narrar a parte mais escabrosa do trato.
– Vamos, Dr. Capanema, não adianta ter escrúpulos a esta altura.
– Você sabe que… desculpe-me, não sei se a trato de senhora ou de você, é tão nova ainda, eu a vi nascer…
Clara atalhou aquele tardio sentimentalismo:
– O tratamento também não vem ao caso agora, doutor. Pode usar o que quiser.
– Como eu dizia, você deve saber que não é fácil convencer as pessoas a agirem fora, digamos, dos padrões normais. O seu pai, quero dizer, perdão, o marido de Isabel já era homem de prestí gio na cidade, naquela época. E também possuía um razoável… hum… patrimônio. Estava bem situado na vida, em resumo. Quando viu que não conseguiria nada com argumentos, apelou para os “fatos”. Obteve, mediante uma soma que eu desconheço, a permissão para fazer o registro no livro de óbitos. Isso foi feito fora do expediente, à noitinha. (Fico visualizando a cena: dois vultos que se esgueiram em plena madrugada e, sob a luz de uma lanterna, perpetram seu crime de falsificação…) Clara fantasia o que ouve, para não se deixar levar pelo ódio.
– E o senhor, Dr. Capanema – investe ela num impulso –quanto ganhou para forjar o atestado?
– Eu... hã? Bem... é... Como amigo do Jaime, eu relutei muito em cobrar por esses... serviços, mas ele insistiu, fez questão, disse que eu também estava me arriscando. Como eu nunca nadei em dinheiro, sempre vivi muito apertado, resolvi deixar a amizade de lado, sabe como é? – e aceitei a... gratificação. Não foi muito, era mais ou menos o valor de uma visita em casa... (A ccelle RANDO )
(Hipócrita, sem-vergonha! Deve ter sido uma quantia grossa, eu sei, o tal Onésio contou, sua vida melhorou muito depois disso.) Em voz alta, ela diz, impaciente:


– O Jaime teve de convencer ainda o pessoal da funerária, que naquele tempo cuidava de tudo: vendia o caixão, preparava o defunto, mandava cavar a sepultura e providenciava a lousa com a inscrição. Acho que tiveram dificuldades com o coveiro que, por pouco, não descobre a maranha toda. Parece que ele estranhou não ter cerimônia fúnebre nenhuma, logo quando se tratava de um “anjinho” e coisa e tal. Começou a fazer pergun tas demais, não sei o que fizeram para silenciar o sujeito. Isso eu não sei mesmo. Enquanto essas medidas eram tomadas, a menina seguiu com alguém da igreja deles para a capital. Acho que de lá ela foi para São Paulo…
– Fui sim – confirmou Clara –, lembrando-o de que falava de sua própria interlocutora.
– Isabel ficou desconsolada, e isso até ajudou os planos do Jaime porque, para todo mundo, aquela tristeza era causada pela morte da filha.
– Que maravilha! – explodiu Clara no auge da exasperação com tanto cinismo, tanta frieza. – Quer dizer que deu tudo certo, ficou tudo muito convincente mesmo, não é?
Quando Moacyr percebeu a crueldade de seu último comen tário, já era tarde para atenuá-la. Mesmo porque aquela moça tão atraente, tão insinuante, levantara-se da cadeira e se despedira, sem que ele pudesse dizer mais nada...


Angela Leite de Souza, mineira de Belo Horizonte, nasceu em 13 de fevereiro de 1948. Morou algum tempo no Rio de Janeiro, cidade em que cursou Comunicação na Pontifícia Universidade Católica (PUC), o que a levou a atuar como jornalista, redatora, editora, colaboradora e crítica literária e de cinema em várias revistas e jornais brasileiros.
Desde muito cedo, criança ainda, sentia necessidade de se expressar escrevendo, especialmente por meio de poemas. No início da década de 1980, surgiu uma oportunidade de mostrar sua produção ao grupo de literatos que se reunia todos os sábados na casa do bibliófilo Plínio Doyle, no Rio, encontros que ficaram conhecidos como Sabadoyles. Dessas reuniões participavam Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Alphonsus de Guimaraens Filho e, entre outros importantes nomes da lite ratura, Homero Homem, que acolheu com entusiasmo os versos da jovem iniciante.

Graças às sugestões desse grande poeta, Angela aprimorou sua coletânea de poemas, que foi considerada pronta para pu blicação pelo também poeta e professor Gilberto Mendonça Te les. A autora a inscreveu em um concurso então realizado pela Imprensa Oficial de Minas, cujo prêmio consistia na edição das obras selecionadas. Assim nasceu o livro de estreia de Angela, Amoras com açúcar, publicado em 1982.

Mas o grande reconhecimento por seu trabalho aconteceu quase 20 anos depois, quando o original de Estas muitas Minas conquistou, em 1997, na categoria “Poesia”, por escolha unâni me do júri, o Prêmio Casa de las Américas de Literatura Brasi leira, promovido pelo governo de Cuba. Quatro anos mais tarde, a autora foi convidada a participar como jurada da escolha do prêmio da mesma categoria.

Alguns anos antes dessa premiação, em 1990, especializou -se em literatura infanto-juvenil, também na PUC, mas então na de Belo Horizonte (MG). Sua carreira literária deslanchou nessa década, em especial na área de literatura para crianças e jovens. Foi no início dessa mesma década, inclusive, que Angela Leite desenvolveu sua tendência para as artes plásticas e começou a ilustrar seus próprios livros e os de outros autores. Assim, tam bém em 1997, as ilustrações de Anjo mesmo, obra de sua autoria, foram finalistas do Prêmio Jabuti.
A afirmação de seu nome, sobretudo entre as obras volta das para esse público mais jovem, foi uma decorrência do fe nômeno do final da década de 1970 conhecido como o boom da literatura infanto-juvenil, que revelou autores como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Bartolomeu Campos de Queirós, e que impulsionou tantos outros, igualmente talentosos, a surgirem nas décadas seguintes. Foi também nessa época que nasceram inúmeras editoras voltadas para esse público e que consagraram ilustradores como autores de imagens (como Eva Furnari, Marilda Castanha, Nelson Cruz e Roger Mello, entre outros), até então considerados meros “enfeitadores” dos textos.
Essa grande safra de obras literárias voltadas para crianças e jovens, em conjunto com políticas públicas e mesmo empreendi mentos privados que visavam promover a leitura em todo o país, sem dúvida preparou o campo para o futuro crescimento de um público leitor.
Ao todo, Angela Leite publicou cerca de 70 livros, em vários gêneros, englobando interesse geral e traduções, para diversos públicos. Muitos de seus livros e ilustrações obtiveram prêmios nacionais – o Carioquinha de Literatura Infantil, da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2000, e o João-de-Barro, da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1995, entre outros – e reconhecimento internacio nal, como a exposição em três edições da Bienal de Ilustração de Bratislava, na Eslováquia (1997, 1999 e 2017). Recentemente, o livro Paz, com texto, projeto e ilustrações de sua autoria, foi um dos laureados no Image of the Book International 2019, na Rússia.
Embora a linguagem poética tenha sido sempre sua forma de expressão favorita, Angela conquistou mais sucesso com seus tex tos em prosa. Assim foi com Um jeito de viver, livro juvenil que teve 13 edições; com Deusmelivre!, narrativa de cunho nonsense; sinos&queijos.com, escrito a quatro mãos com o autor Lino de Albergaria.
Os estudantes de Ensino Médio encontrarão neste romance, de Angela Leite, voltado para o público juvenil, não só uma narrativa primorosa e envolvente, como um enredo que trata muito especialmente de uma questão premente para os jovens: sua história e suas origens.

Ao concluir o curso de bacharelado em fotografia na Facul dade SENAC, em 2004, Paulo Otero descobriu um forte interesse em fotografar, principalmente, pessoas. Passou alguns anos fora do país e de volta ao Brasil, iniciou sua jornada como fotógrafo social e de eventos, sem deixar de lado a fotografia como expressão do seu trabalho plástico.
Paralelamente, dedicou-se às artes plásticas, atuando como assistente de renomados artistas; assim, pôde encontrar um caminho de pesquisa próprio, que nomeou como ponto.otero; técnica de bordado (sobre superfícies de papel, no caso deste livro) usando imagens como inspiração para as criações. A deli cadeza, a fragilidade e a diversidade que o papel possui contri buem como meios ideais para expressão de sua criatividade e de suas intenções artísticas. Assim, acumula todo e qualquer tipo de papel que lhe toque de maneira inspiradora. É com essas obras que participa de feiras de arte desde 2018 e com elas tem feito exposições coletivas e individuais. Como ilustrador já ilustrou livros de Luís Dill – 80 degraus – e de Regina Drummond – Tem de tudo nessa escola –, além de novos projetos. No caso de Clara, violino e orquestra sua perspectiva foi a de trabalhar em um tom paralelo ao da escrita e com cores similares às da narrativa da autora Angela Leite de Souza, gran de referência no mundo da literatura. A delicadeza do texto, tão pessoal, íntimo e eivado de sentimentos profundos, fez com que seu trabalho se tornasse desafiador e que se construísse de uma maneira sonora, musical e sutil. O bordado em papel pela própria fragilidade do suporte deve ser observado com atenção. Os pontos se constroem na imagem e se reproduzem no verso do trabalho, algumas vezes aqui explicitado. O verso e o reverso das persona gens e do romance.

Clara Sprenger era uma cantora lírica talentosa e conhecida. Ao vê-la cantar tão seguramente nos palcos, ninguém imaginaria que, na adolescência, ela se deparara com um mistério em sua vida. Quem era ela afinal? Clara Lima Furtado ou Clara Santa Cruz Aleixo? Quais eram realmente suas origens? Como seriam seus pais? Por que eles teriam aberto mão dela? Com muito medo, mas cheia de coragem, Clara vai em busca da verdade que irá fazer com que ela possa reconstruir a sua identidade.

Esse é o fio condutor do romance Clara, violino e orquestra, um presente de Angela Leite aos jovens. As inquietações que po voam a mente de Clara têm a ver com as de muitos deles: o sentimento de rejeição, a necessidade de saber quem é, de onde veio, ter um norte.
Além disso, as surpresas que a leitura traz nos conduzem à reflexão sobre a violência contra a mulher e o silêncio que muitas vezes faz sufocar dores escondidas.
Por sua vez, a organização da obra reproduz a de uma sinfonia - composição para orquestra geralmente dividida em quatro movimentos ou partes. Assim, a autora recorre à nomenclatura musical e divide a obra em quatro movimentos, cada qual com seus próprios andamentos1, anunciando de certo modo o clima emocional que irá se desenrolar em cada um – Andante, Vivace; Adagio, Allegro, Adagio; Andante, Vivace, Presto; Lento, Vivace, Andan te. A nomenclatura musical, aliás, entrelaça-se à narrativa não só
1 Andamento, aqui, refere-se à velocidade das pulsações de um trecho musical. Geralmente registrado em italiano, o andamento vem indicado no início da parti tura. Há os andamentos mais lentos (como Grave, Larghissimo, Adagio, Lento, entre outros), os moderados ou médios (como Andante, Sostenuto, Commodo, Allegreto, entre outros) e os rápidos (Allegro, Vivace, Presto, entre outros).
na divisão das partes, mas também em seu desenrolar, criando no leitor a sensação de que cada movimento do livro revela sua própria melodia.
Além disso, cada um desses movimentos no livro é antecedido por um poema, que sintetiza, de maneira sutil e lírica, cada parte. Ao primeiro desses poemas, é dado o nome de Prelúdio, posto que abre a obra; aos demais, de Intermezzos, posto que se colocam entre dois movimentos, separando-os.

São muitos os personagens que circulam pela obra: Débora e Nestor, aqueles que criaram Clara; Isabel e Bernardo, seus pais verdadeiros; Jaime, marido de Isabel; Eleonor, esposa de Ber nardo; Aulo, primeiro marido de Clara; Ruth, filha de Clara, e Carlos, seu marido; Vinícius, segundo marido de Clara; Daniel e Luísa, netos de Clara; Leandro, Paulo, Sônia, Irene e Júlio, ir mãos de Clara por parte de pai; Consuelo, Rubens, Rui e Augusto, irmãos de Clara por parte de mãe; Carlo, avô de Clara, pai de Bernardo; Dr. Moacyr Capanema, médico responsável pela farsa da morte de Clara... e tantos, tantos outros. Cada qual contribuindo, a seu modo, para a construção da identidade de Clara. Todos os personagens são apresentados no início do livro, com pondo um programa musical, o que já indica que todos fariam parte, da alguma maneira, da melodia que representava a vida de Clara.
O narrador em 3ª pessoa, onisciente, assume o papel de maestro e rege as relações entre os personagens e os sentimen tos de cada um, compondo, assim, uma sinfonia de vozes que revela a trama de uma vida – a de Clara.
Clara, violino e orquestra, um romance voltado para o público juvenil
A adolescência e a juventude só foram reconhecidas como pe ríodos específicos da vida humana aproximadamente na metade do século passado, com a eclosão da sociedade pós-industrial, como contam Ana Margarida Ramos e Diana Navas (2019)1. Mes mo assim, até hoje não há consenso sobre que idades abrangem essas duas faixas – há os que defendem que elas se estendem entre 11 e 16 anos, e os que preferem localizá-la entre 13 e 20 anos.
Por isso, a noção de literatura juvenil é muito recente. No E-Dicionário de termos literários2, ela é definida como um tipo de expressão literária, constituído por obras, na maioria, de ficção, escritas geralmente por adultos e destinadas a um público jovem (ALBUQUERQUE, 2009, s.p.).
No Brasil, como já registrado aqui, a literatura infantil e a juvenil eclodiram no final da década de 1970, desvelando-se por inúmeros gêneros, como romances, contos, poemas, almana ques e tantos outros.
1 RAMOS, A. M.; NAVAS, D. Literatura juvenil dos dois lados do Atlântico. São Paulo: EDUC, 2019.
2 ALBUQUERQUE, M. F. Literatura Juvenil. E-Dicionário de termos literários (by Carlos Ceia), Lisboa, 2009.

A partir de 1980/1990, de acordo com Gregorin Filho (2011), ganham vulto os romances juvenis, com temáticas voltadas para as inquietações e questionamentos próprios da juventude, como conflitos em relação ao seu papel no mundo e à sua identidade, descoberta do amor e da sexualidade, necessidade de estar so zinho e com muitos amigos ao mesmo tempo, e tantos outros. Clara, violino e orquestra alinha-se a essa tendência, que até hoje arrebata jovens leitores.

O romance juvenil segue a composição dos romances adultos: uma narrativa de maior fôlego, com diversidade de personagens, espaço e tempo descritos, narrador ou em 1ª ou em 3ª pessoa. Esta obra de Angela Leite não foge à regra. Além de Clara, a protagonista, muitos personagens transitam pela narrativa, todos de alguma forma responsáveis por algum ponto que precisa ser dado para que o enredo se desenvolva e a trama se construa. A narrativa não é linear e se desenvolve em diferentes tempos e es paços diversos – de meados de 1940 até a atualidade, são vários os recortes temporais; e de Conselheiro Barbacena e Santa Luzia do Rio das Velhas, em Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, muita coisa acontece. O narrador onisciente em 3ª pessoa alterna-se com narrações da própria Clara, que eventualmente emergem no texto e revelam suas emoções.

Diálogos francos e fortes caracterizam a interação entre os personagens. No entanto, a paixão de Angela Leite pela poesia revela-se em seu texto lírico, mesmo em prosa, e pelos poemas que abrem cada parte (ou movimento, como já explicado). Ne les, a autora envolve e cativa os leitores, antecipando aquilo que os aguarda no curso instigante da leitura. Não se consegue es quecer o poema de abertura do primeiro movimento, que ecoa ao longo de toda a narrativa:



A vida de Clara tramou-se em canto e drama. Sua errante ária tornada coro de prantos. Dorido solo: carpir a própria morte. E dela dragar outra Clara, toda encanto e arte.3
3 LEITE, A. Clara, violino e orquestra. São Paulo: SEI, 2021. p. 08.
Clara, violino e orquestra, um alerta sobre a violência contra a mulher
No livro, Clara foi fruto de uma violência: violência fria, física, sexual. Em uma época em que a Lei Maria da Penha1 ainda não existia, essa violência tendia a ser escondida, acobertando atos co vardes e vis. Isabel, coberta de culpa e vergonha que não eram de fato suas , escondeu o quanto pôde o que ocorrera e, com o fato descoberto pelo marido, viu-se vítima de uma segunda violência: foi apartada da filha, sem que tivesse chance de opinar. Nos dias atuais, atos de violência contra a mulher, infeliz mente, continuam a acontecer. No Brasil, de acordo com dados levantados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, ocorrem 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, o quinto maior índice do mundo. Esses crimes, na maioria, são cometidos dentro de casa e geralmente por pessoas próximas das vítimas. E, embora protegidas por legislação, mesmo hoje em dia mais da metade das mulheres que sofreram violência não denuncia seus agressores, de acordo com o relatório Visível e invisível: a vi timização de mulheres no Brasil – 2ª edição2, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Datafolha (2019).
1 BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. Diário Oficial da União, Brasília, 8 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.
2 FÓRUM Brasileiro de Segurança Pública/DATAFOLHA. Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil – 2ª edição. Relatório de pesquisa. São Paulo, 2019.

Esse é um panorama triste. E a obra Clara, violino e orquestra contribui para que os jovens possam refletir não só sobre a violência contra a mulher em si, mas também sobre os impactos que essa violência e atitudes de acobertamento e silêncio podem ter na vida não só da mulher agredida, mas também na dos seus parentes, amigos e comunidade.

Assim, este livro representa, ao mesmo tempo, a possibilida de de uma leitura prazerosa, dado o lirismo de seu texto, a opor tunidade de reflexão sobre temas caros aos jovens, que estão em busca de construir sua identidade, e um alerta importante sobre a violência contra a mulher e a necessidade de essa violência ser para sempre banida.



Clara Sprenger é uma cantora lírica talentosa e conhecida. Ao vê-la cantar tão seguramente nos palcos, ninguém imagi naria que, na adolescência, ela se deparara com um mistério em sua vida. Quem era ela afinal? Clara Lima Furtado ou Clara Santa Cruz Aleixo? Quais eram realmente suas ori gens? Como seriam seus pais? Por que eles teriam aberto mão dela? Com muito medo, mas cheia de coragem, Clara vai em busca da verdade que irá fazer com que ela possa reconstruir a sua identidade.
Através do uso de estruturas musicais, a autora nos traz um belo texto em que ressalta a importância de lutarmos pela vida sem violência e pela verdade. Os bordados em papel de Paulo Otero completam esta partitura de Angela Leite de Souza.
