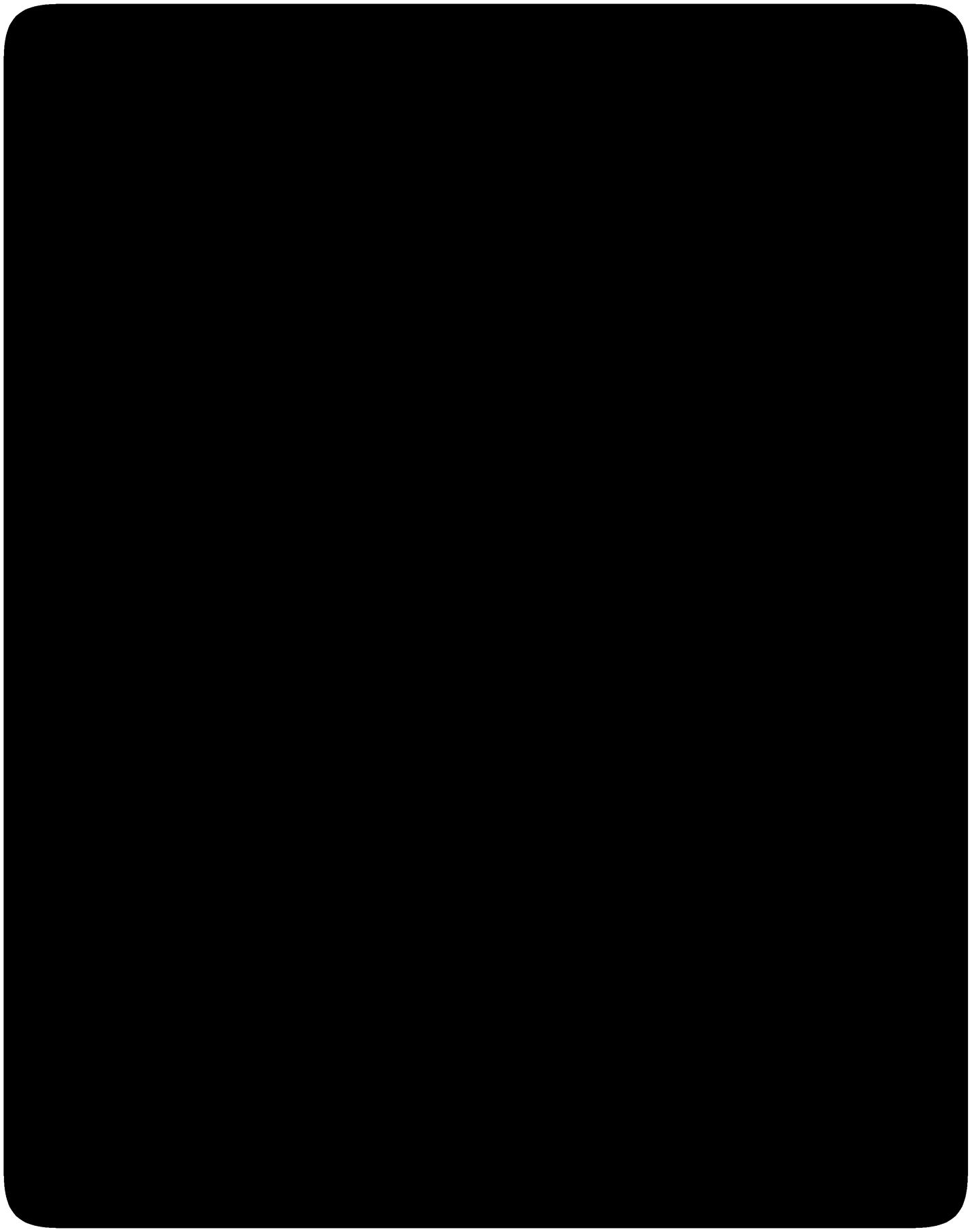9 minute read
Mulheres que Amamos
MULHERES QUE INSPIRAM.
AQUI NESTAS PÁGINAS TEMOS
Advertisement
DUAS: MARILENE BITTENCOURT
E LELEI TEIXEIRA.
UMA APAIXONADA PELA ARTE E
PELO DESIGN BRASILEIRO, OUTRA
AMANTE DAS PALAVRAS E DA
COMUNICAÇÃO. MARAVILHOSAS
MULHERES AS DUAS, INQUIETAS,
ATIVAS, CRIATIVAS, LUTADORAS.
PROFUNDAMENTE INSPIRADORAS.
MULHERES QUE NÓS AMAMOS.
MARILENE BITTENCOURT
Quando coloquei os pés pela primeira vez na galeria de arte que Marilene Bittencourt criou em sua casa, em Porto Alegre, mal sabia que entraria no mundo de alguém que ajudou a mudar a história do mobiliário brasileiro, além de incentivar, por toda a sua vida, a cultura e a arte.
Marilene é a mais nova de 11 irmãos e nasceu em Alecrim, onde os pais viviam do cultivo da terra. Ela estudou Belas Artes em Santa Maria e casou muito jovem, mudando-se com o marido, Carlos, para Santo Ângelo, cidade onde sua trajetória de empreendedorismo começou.
Morando a 400 km da capital, aos 21 anos fundou a Habitart. A ideia era oferecer opções culturais à cidade, levando peças de teatro e exposições de arte, sendo ela a responsável pela curadoria. Enquanto se dividia entre administrar a sua empresa, cuidar dos filhos Eduardo e Leonardo e encarar as idas e vindas a Porto Alegre, onde estudou Decoração de Interiores, ela encontrou tempo para produzir uma feira chamada Decorart, que contou com expositores e palestrantes.
Passou oito anos na estrada, entre interior e capital, criando projetos de decoração, fazendo representação de empresas e vendendo arte. Decidiu alçar voos mais altos e mudou-se para Porto Alegre na mesma época em que se divorciou e começou a atuar como diretora de marketing da fábrica de móveis Schuster.
Apaixonada pelo design brasileiro e por mobiliário autoral, começou uma parceria com Humberto e Fernando Campana. Ela participou do desenvolvimento da cadeira Favela, que deu aos Irmãos Campana o prêmio no prestigiado Salão Internacional do Móvel de Milão. Esse projeto lançou holofotes sobre os móveis brasileiros, aumentando a exportação da Schuster e levando outras empresas do ramo a investir em obras criativas. Seu nome virou referência nessa indústria e ela seguiu atuando na criação de produtos originais e com DNA nacional. O sucesso foi tanto que, em 2003, Marilene concedeu entrevista para Tony Smith, jornalista do The New York Times, para uma matéria sobre o mobiliário brasileiro.
Em 2005, reativou a Habitart, e inicialmente em parceria com a Schuster e depois, de forma independente, continuou distribuindo móveis para todo o país e desenvolvendo peças junto a importantes nomes, como Zanini de Zanine, Heloísa Crocco e Beto Salvi.
Nessa época ela já estava casada com o jornalista Walmor Bergesch, um dos pioneiros da TV no Rio Grande do Sul, e que entre os muitos feitos criou o Canal Rural e a TV COM. Marilene o conheceu no final dos anos 1990 através de uma amiga em comum. Juntos de sfrutaram de paixões compartilhadas, como a arte, música e natureza. Viajaram pelo mundo, foram parceiros, cúmplices e companheiros. Até que, em 2010, Walmor foi diagnosticado com um tipo raro de câncer e faleceu um ano depois.
A perda do grande amor de sua vida foi um divisor de águas. Marilene decidiu passar um período sabático em Lisboa, onde estudou fotografia e com o fotojornalista português Fernando Ricardo criou o projeto Retratos, realizado em 2015 no estado do Tocantins, junto a tribos indígenas. Também fotografou no México e, circulando por este meio cultural, tornou-se amiga de Sebastião Salgado.
Retornou a Porto Alegre em 2018, pois além da forte saudade que sentia dos filhos e do labrador Aquiles, sentiu necessidade de voltar às origens. A Habitart virou então uma home gallery, um espaço intimista e um verdadeiro templo da arte criado na casa de Marilene. Lá ela recebe as pessoas com hora marcada e os visitantes são apresentados a obras assinadas por artistas renomados e novos talentos. Ela, que carrega no sangue seu amor pela cultura e trabalha com brilho nos olhos, realiza-se atuando ao lado de mentes criativas, ressignificando sua vida com e através da arte.
POR ANA GUERRA, JORNALISTA
mulheres que amamos
LELEI TEIXEIRA
A jornalista Lelei Teixeira colocou os pés em 2021 celebrando uma grande conquista: seu livro de estreia teve a primeira edição esgotada em menos de um mês. Ela se diz surpresa com a repercussão da obra, lançada pela Pubblicato Editora, e explica que o título “E fomos ser gauche na vida” surgiu de uma conversa com o editor Vitor Mesquita. Inspirados em um poema de Carlos Drummond de Andrade, eles escolheram a palavra “gauche”, referindo-se a quem está deslocado, à margem da sociedade, para ilustrar como é a vida de uma pessoa com deficiência.
De forma leve e bem-humorada, mas também reflexiva, Lelei construiu com delicadeza e sensibilidade um texto que seria escrito a quatro mãos. Ela e a irmã Marlene, que morreu em abril de 2015, durante anos planejaram escrever sobre a vida com nanismo. O livro, que em sua concepção original teria um enfoque mais técnico e histórico, tornou-se uma obra intimista e pessoal, uma biografia que conta a história das irmãs e como elas superaram preconceitos e lutaram por acessibilidade e inclusão.
Tudo começou em Jaquirana, que à época era distrito de São Francisco de Paula, no interior gaúcho. Quando Marlene nasceu, os familiares achavam que era um pouco menor que as outras crianças, e conforme ela crescia, notaram que seus braços e pernas eram mais curtos. Lelei nasceu um ano depois da irmã e com as mesmas características físicas. Quando concluíram que havia algo de diferente no desenvolvimento da dupla, os pais Coralia e Nestor as levaram em vários médicos, até que um deles, em Porto Alegre, deu o diagnóstico: “Elas não têm nada grave, e sim nanismo”. A forma tranquila como o médico deu a notícia ajudou os pais a encarem a situação com leveza.
As meninas viveram uma infância sem limitações, sendo estimuladas a fazer tudo que os irmãos Mariza e Rui faziam e a conquistar total autonomia e independência. Conforme os anos passaram, viram que eram alvo de olhares e comentários de estranhos. Aos 6 anos de idade, Lelei ouviu alguém gritar “Olha uma anãzinha” quando estava entrando na escola. Imediatamente voltou para casa chorando. Uma de suas tias, furiosa com o ocorrido, a levou de volta. O diretor do colégio a pegou pela mão e, de sala em sala, a apresentou aos alunos, pedindo que a tratassem com respeito e empatia.
Os anos passaram e os olhares e risadinhas de curiosos, além de comentários inadequados e grosseiros, ocorriam de quando em vez. Mas isso nunca derrubou Lelei. Levantou a cabeça e seguiu sua vida, sempre rodeada pela família, muitos amigos, viajando pelo Brasil e pelo mundo e construindo uma linda e bem-sucedida carreira no jornalismo.
Seu primeiro emprego foi no jornal Zero Hora, passando também pela TV Guaíba, Rádio Pampa, Correio do Povo e TVE, todos importantes veículos de comunicação gaúchos. Em cada um deles desenvolveu aptidões diferentes, atuando como redatora, produtora e gestora. Depois fundou uma importante agência de comunicação, a Pauta, onde por mais de duas décadas atendeu grandes clientes como o Festival de Cinema de Gramado, Massey Ferguson e Moinhos Shopping. Hoje se dedica a uma rotina diferente, escrevendo e revisando textos e livros.
O fato mais duro de sua jornada foi encarar a morte da irmã após uma longa luta contra o câncer. A perda da melhor amiga e grande parceira de vida a tirou do prumo. Para enfrentar o luto, encontrou na escrita uma forma de lidar com a dor. Criou um blog chamado “Isso não é comum”, que acabou sendo o embrião para o livro, que nasceu em dezembro de 2020 como homenagem à Marlene.
Durante décadas, elas sempre se apoiaram, inclusive dando sugestões e palpites uma no trabalho da outra. Todos os aprendizados desse amor fraternal guiaram Lelei no processo de criação do livro, cujo texto nasceu ao colocar em prática um pedido que a irmã, que foi professora, acadêmica e uma estudiosa da palavra, costumava lhe fazer: “Coloca teu olho de jornalista no que estou escrevendo”.
POR ANA GUERRA, JORNALISTA
Palavra
LUÍS AUGUSTO FISCHER
ÁGUA
A fumaça do nosso triste presente embaralha a vista. A gente nem consegue saber se o que obscurece a paisagem é a fumaça mesmo ou uma lágrima nossa. Tá difícil de manter a sanidade neste caos – e os mortos seguem aumentando em número. Ninguém sabe onde vai parar.
Daí que as lembranças sejam tão valiosas. Os projetos de futuro também – porque a pandemia e a loucura de nosso país vão passar, para os que sobreviverem: aí vamos secar as lágrimas e nos abraçar como gente.
Agora vou me apegar à memória, este beco obscuro em que podem despontar figuras lindas.
Ocorre que eu reouvi com muita atenção o disco “Bebeto Alves”, de 1981. Logo me dei conta de que já se passaram quatro décadas. Quatro. E eu já era gente! Tanto era que comprei o LP e o ouvi incontáveis vezes.
Nas novas audições – o disco não está nas plataformas de streaming, por motivos corporativos da antiga gravadora, mas se pode encontrar no youtube sem maior drama – tive muitas alegrias. Aquilo era a cara de um tempo, mas também é o nosso presente. Bebeto Alves é um imprescindível artista inquieto, que até hoje segue se propondo novos e novos desafios, agora não mais apenas no campo da música.
As canções seguem fazendo sentido para muito além do que dizem imediatamente. São milongas, chamamés, uma vidala, uma valsinha, uma chacarera e uma rancheira, enfim, um desfile de gêneros musicais sulinos, que o Bebeto encontrou um jeito de gravar numa das grandes empresas do ramo, naquele tempo.
Os arranjos são no geral muito felizes; ressoa por todo o disco um diálogo entre o passado, representado nas canções de inspiração regional, e o futuro, que se ouve no acompanhamento feito por músicos roqueiros, da banda Bixo da Seda.
Falemos de “Água”, a chacareira, de Cao Trein, um sujeito que faleceu jovem ainda e não teve tempo de mostrar tudo que certamente teria para compor.
Debaixo deste poente passa n’água clareando a balsa Pra quem fica, turbulência pra quem vai na asa dela É bala, é bela
Essa primeira estrofe já me comove. A paisagem é interna, do Brasil fora do litoral: se trata de um rio no qual se move uma balsa. Rio volumoso, grande, largo, como o rio que banha Uruguaiana, a terra natal do Bebeto e acho que do Cao também. Quem fica na margem, vê antes a turbulência da água; mas para quem vai na asa da balsa, puxa vida, é só beleza, com a velocidade de uma bala. E por aí o ouvinte já entrou numa dimensão diferente: água, balsa, asa, bala, bela. (Repita em voz alta.) Estamos enredados num jogo sonoro que multiplica os sentidos.
A canção vai adiante, e eu queria registrar apenas mais uma imagem: o balseiro navega por uma “cicatriz do pampa”. Agora, a gente foi elevado, como num zoom do Google Earth, para ver o rio lá de cima, como um risco, na grande planície do pampa.
Por uns momentos, nos livramos do presente insuportável, e mergulhamos numa história que não é nossa mas é nossa sim: a história de gente, um barqueiro, o leitor destas linhas, todo mundo.
LUÍS AUGUSTO FISCHER, PROFESSOR DE LITERATURA E ESCRITOR