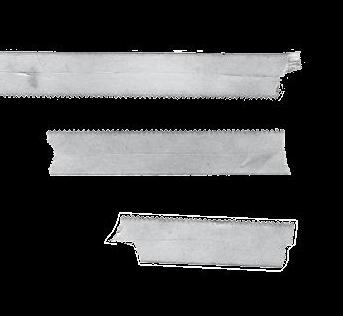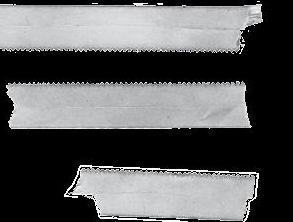7 minute read
1989, o número Simplicio Neto
Título: 1989, o número
Autor: Simplicio Neto
Advertisement
1989 the number another summer e o então aspirante a antropólogo cineasta que vos fala se iniciava na cinefilia e na boemia, como muitos outros teens e lost boys de sua geração (e mais até da anterior), nas portas de uma galeria. Nela, ao fundo, se descortinava a entrada de um “cinema poeira”, como se dizia, hoje chamado “a sala 1 do Estação”. Tal típica galeria comercial de pequenos negócios de bairro ainda não se “gourmetizara”, como hoje se diz: o foco dos encontros fortuitos e dos bate-papos entusiasmados que aconteciam antes, depois, ou mesmo apesar das sessões de um cinema que se queria de “arte” ou “alternativo”, era um boteco pé-sujo. Ficava onde hoje há um belo “café” arrumado. Nesse ambiente os cariocas “antenados” se encantavam com os novos filmes de Wim Wenders, Pedro Almodóvar e Jim Jarmusch, sentindo as frescas lufadas de mais um momentochave do cinema “autoral” mundial, naquela virada confusa dos anos 80 para os 90. Confusa ao menos pra mim, eu no auge da adolescência wertheriana. Aboletado nas cadeiras rotas, via marchar esse exército de auteurs na tela do fundo da galeria, criadores decididamente ou injustamente alcunhados de pós-modernos. Entre eles, pontificava enfim um “cineasta negro”, como o buchicho geral a ele se
referia. Ou, seria um, como aprendemos a chamar, graças aos caminhos tortuosos do pensamento civilizado, diretor de cinema “afrodescendente”. Sim, em resumo é disso que falarei nesse texto: de como era na bagagem de produtos culturais inaugurantes de novas tendências éticas e estéticas, como Faça a coisa certa de Spike Lee, que chegavam até nós nas bordas e franjas da imprensa cultural nativa, as questões do “multiculturalismo” nas universidades americanas, do tal “sistema de cotas” de lá, que vinha fazendo aparecer cada vez mais talentos e personalidades afrodescentes na América do Norte. Assim como dessa cobrança mesma que se estabelecia no jornalismo e na academia, nos circuitos intelectuais, enfim, da potência-mor, de se “dizer a coisa certa”, do “politically correct”. Causando como reação mais comum da parte de nossos intelectuais, nessa hora não tendo nenhuma vergonha de passarem, sei lá, por provincianos: Ah, isso era moda passageira típica da gringolândia, da qual nossa velha, e ao seu modo sábia, “democracia racial” prescindia, pois afinal não tínhamos “racismo de verdade” como nos EUA. Oh, quanto nacionalismo. Só que não.

Para os adolescentes que tinham sido treinados a, pela própria tradição de nossa elite intelectual, correr atrás de, e a se encartar com, as novidades culturais do grande irmão do norte, o entendimento de que: a) quem tinha acabado de ganhar dos “russos” na Guerra Fria, b) tinha ao mesmo tempo gerado a explosão antissupremacia branca que Faça a coisa certa nos ensinava – ainda mais aos já decididos no caminho da esquerda política como eu –, que c) imitar, ou mesmo ter de aceitar como úteis ao Brasil certos modos e novidades dos ianques, podia não ser de todo mau.
Só hoje, umas décadas de filmes e músicas e decretos depois, que estamos encarando, enfim, os desafios salutares de uma política de cotas mais ou
menos efetiva no Brasil de Zumbi e Ganga Zumba. Uma nova geração de afrodescendentes de formação universitária tem cada vez mais voz em seus próprios, e por que não mais apropriados, diagnósticos sobre a desigualdade e a injustiça congênita de nossa sociedade. Principalmente eles trazem, incontornavelmente à baila, toda a questão da representação dos negros nos espaços de poder e prestígio, a mesma que este filme em discussão nos provoca toda vez que visto. Representação que está sempre ameaçada pelas idas e vindas de nossa precária institucionalidade política. Escrevo esse texto no momento do impeachment, do apeamento extremamente discutível de um projeto de poder que bem ou mal andou trazendo as questões da igualdade racial e da quatrocentona dívida social brasileira à baila.
Nós, garotos que vimos o Spike Lee despontar lá no Estação, um par de anos depois estávamos, sim, na Avenida Rio Branco nos manifestando loucamente pelo impeachment de um presidente e sendo chamados de caras pintadas, mesmo aqueles de cara limpa, pela grande mídia. Esta que sempre navegou nas ondas que lhes interessavam. Mas o projeto em questão hoje é outro, não o neoliberal-afunda-estado de Collor. Que as conquistas do projeto mais recente, sacramentado por quatro eleições, não sejam apeadas também, pois são de todo nosso país. De qualquer forma, momento mais oportuno para esse filme não poderia haver.

A frase em inglês que abre esse texto como sabem é a frase que abre o fluxo de rimas “designed to fill your mind” do “hard rymer” Chuck D. O líder do grupo de rap Public Enemy, que tanta influência teria no nosso Mano Brown, nos nossos Racionais MCs, e assim essa mensagem que primeiro ecoou nas salas de arte da triste e linda Zona Sul do balneário, ecoaria depois pelas periferias de nosso país. Os anos 90 chegavam com Spike Lee, e a força política inau-
dita do hip hop de tom mais politizado marcaria o mundo. Uma força que está sintetizada na sempre estonteante sequência de abertura do filme, com a bailarina-boxer suingando ao som do funky drummer, pedindo “give us what we want”, pois “gotta give us what we need”. Já que “our freedom of speech is freedom or death”, então, “We got to fight the powers that be”, convence-nos de prima este espetacular introito. Equiparável, nesse sentido de celebração de uma revolução tanto social quanto estética, as cenas da estátua do Tzar sendo derrubada na abertura de Outubro de Eisenstein. Só que com o “suingue da cor”, como explicariam ad nauseam os axés e pagodes que também dominariam a década a se seguir, e também seriam indicativos de novos lugares para nossa cultura de ascendência afro, politizada ou não.

A letra do hit “Fight the Power” embala esse prólogo, já apontando as principais cenas e questões do filme. Como a da crise de representação, que se agrava num contexto étnico-racial, e nos evoca o clamor tão atual dos gritos de “não nos representa” das ruas de hoje. As agruras do deficit de representatividade são magnificamente resumidas num outro trecho da música, que aliás gerou intensa polêmica nos EUA. Aquele em que os ícones culturais brancos são desconstruídos, em que Elvis, o eurodescendente que fez sucesso como rei ilegítimo de uma música afrodescendente, o rock and roll, e é xingado: Elvis “was a hero to most”, mas “ele nunca quis dizer merda nenhuma pra mim”, vociferava Chuck D, alegando que o “the pelvis” era um “Straight up racist”, portanto “Mother fuck him and John Wayne”, e acabou. Esse é o clima que vai sendo construído cinematograficamente, principalmente mais tarde, no lócus dramático da pizzaria dos italianos. Lá onde apenas se penduram quadros dos Frank Sinatras da vida, de outros tantos ídolos brancos, apesar da frequência da casa ser majoritariamente de blacks.

Essa alegoria do “não nos representa”, que de fato nos EUA se adequaria mais apenas a um bairro negro, pois lá eles são 11 por cento da população, num país como o nosso, onde os afrodescendentes são mais de 50 por cento, não poderia soar mais cabível e pervasiva. Por aqui é que a conta da representatividade não bate mesmo. Por aqui, a sensação de que “most of my heroes don’t appear on no stamps” é que pode ser ainda mais dolorosa, pois sim, “you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check” em todas as esferas de poder. Se há que se evitar o incêndio da pizzaria toda, o incêndio do nosso bairro todo, como no clímax de Faça a coisa certa, as forças dramáticas centenárias postas em ação e em representação e alegorização no filme de Spike Lee têm que ser reconfiguradas no mundo social. Para isso, fight the powers that be. Do jeito que der, Faça a coisa certa.
Faça a coisa certa