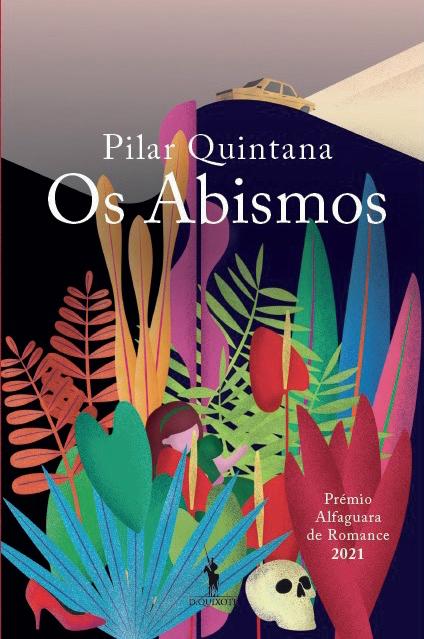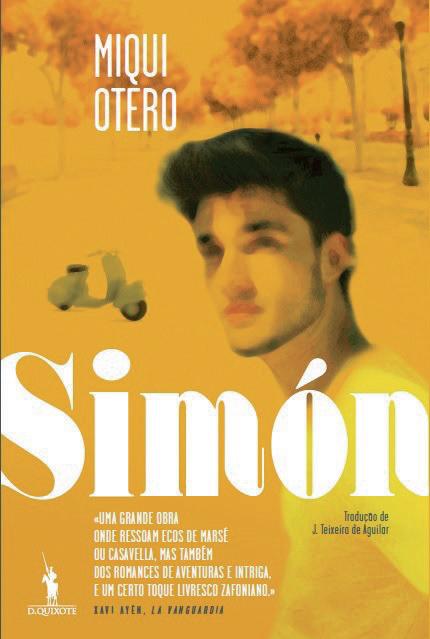Pode a arte contribuir para um ambiente de paz?

SAÚL NEVES DE JESUS

Catedrático da Universidade do Algarve; Pós-doutorado em Artes Visuais;
Desde há mais de meio ano que somos confrontados diariamente com imagens e relatos da guerra na Ucrânia. Esta afeta-nos particularmente, pelo envolvimento da Europa neste conflito e pela constante divulgação do que vai acontecendo pe los media.
No entanto, há guerras a acontecer também noutros locais do planeta Ter ra e a história da humanidade tem sido, infelizmente, caracterizada por muitas situações de conflito entre países. O de sejo de poder, a conquista de espaço, o desejo de posse são alguns dos fatores que levam a que isto aconteça . O pro blema adicional é que os meios usados são cada vez mais mortíferos, atingindo muitos inocentes. Esta é uma questão central quando pensamos o futuro da humanidade. Tal como as questões ambientais, as questões ligadas à paz, em particular, são fundamentais para podermos pensar a vida no nosso pla neta a médio/longo prazo.
É nesse pressuposto que o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) tem vindo a realizar diversas iniciativas, nomeadamente em escolas, junto das crianças e dos jovens. Tendo em conta que a arte pode inserir -se num movimento de “educação para a paz”, ajudando a parar no tempo e a refletir, de forma a que não se repitam no futuro os erros do passado, e con tribuindo como instrumento de crítica social e política, procurando influen ciar valores sociais e decisões políticas, este Conselho, em colaboração com a “Peace and Art Society”, entre 2018 e 2021, organizou várias exposições no Algarve, intituladas “Artistas pela Paz” e “Pela Paz, contra as armas nu cleares”, em que foram apresentadas imagens que procuravam sensibilizar para os perigos das armas nucleares.

E a guerra tem um impacto negativo no ambiente, quer ao nível da natureza, quer no plano do ambiente social, da relação entre as pessoas, da qualidade de vida e do bem-estar.
Este ano, com o título “Por um Am biente de Paz”, o CPPC organiza mais
um ciclo de exposições que se iniciou na Biblioteca da Universidade do Al garve, no passado dia 15 de setembro. Desta vez, as obras expostas pro curam sensibilizar para as questões ambientais e para a importância da preservação da natureza. Isto através de um ambiente de paz consigo pró prio, com os outros e com a natureza. Em particular, nesta exposição procu ro contribuir com três obras. A uma delas, “STOP! Este não é o caminho...”, já havia feito referência em 2020, procurando alertar para as conse quências ambientais dos incêndios na Amazónia, provocados por interesses economicistas.


Criada especificamente para esta exposição, a obra “Natureza e Paz In terior” retoma a abordagem que havia procurado desenvolver, em 2018, com a obra “PAZ é o caminho (Homenagem a Gandhi)”. Desta vez, apresentamos um desenho que pode ser percebido como uma pomba, símbolo da paz, ou como uma mão, sendo colocados os dois dedos numa expressão de vitó ria. Desta forma, procura-se salientar a importância da vitória da PAZ para a sobrevivência da espécie humana e da natureza. A pomba está com cor verde, a cor que simboliza a esperan ça num futuro de Paz, em harmonia com a natureza, que a cor verde tam bém procura simbolizar. Esta paz e harmonia com a natureza é repre sentada com o girassol segurado pela pomba, encontrando-se escrita a frase “O segredo da paz interior é manter a conexão com a natureza”, da autoria de Alexander Supertramp. Este foi um viajante norte-americano que morreu em 1992, com 24 anos, no Alasca, após caminhar durante dois anos sozinho na selva da região com pouca comida e quase nenhum equipamento. Sobre a sua vida foi escrito o livro “Into the Wild”, por Joe Krakauer, em 1996, o qual foi adaptado ao cinema por Sean Penn, em 2007. Logo após acabar o curso na Universidade de Atlanta, em 1990, Christopher McCandless doou os 24 mil dólares que tinha na sua conta bancária a instituições de caridade e desapareceu sem avisar a família, passando a assumir o nome de Alexander Supertramp. Revoltado com a sociedade materialista em que tinha vivido, adotou um novo estilo de vida caracterizado pela paz com a na tureza. Durante a sua viagem escreveu
um diário, no qual foram encontradas várias frases, entre as quais aquela que selecionámos para esta obra, destacan do a importância da conexão com a natureza para o desenvolvimento da paz interior.
Consideramos a paz consigo próprio essencial, pois só em paz consigo mes mo é que o ser humano consegue estar em paz com os outros. A paz está em cada um de nós e é fundamental que cada um a encontre com equilíbrio, serenidade e alegria! Nesta exposição apresentamos ainda a obra “A paz e o ambiente são da res ponsabilidade de todos!”. Este trabalho é um ready-made, isto é, procurámos aproveitar um objeto comum que já existe, retirando-o do seu contexto atual e passando a tratá-lo como obje to artístico, pelo significado adquirido. Os ready-made foram introduzidos na história de arte desde o início do século XX, procurando causar surpresa no público e romper com a arte tradicio nal. O trabalho mais conhecido neste âmbito é a “Fonte” (1917), de Marcel Duchamp, em que foi usado um urinol de porcelana branca. A arte concetual, movimento que se desenvolveu a partir dos anos 60, encontra nos ready-made a sua principal inspiração, ao destacar a importância do conceito, significado ou ideia do artista. Neste caso, apro veitamos um vaso com uma planta aromática (lavanda ou rosmaninho). Simultaneamente, colocamos um bor rifador, na forma de granada, com o qual deve ser feita a rega da planta para a manter viva. A granada é um objeto de guerra, mas o borrifador torna-se num objeto de paz, em harmonia com a natu reza. Pretende-se que sejam os próprios visitantes da exposição a borrifar a plan ta, mantendo-a viva e ajudando-a no seu desenvolvimento. Assim, este trabalho também permite uma forma de arte in terativa, em que o público é chamado a participar e a ter um papel ativo durante a exposição. E com este ready-made e este procedimento de participação do público pretendemos salientar a ideia de que “a paz e o ambiente são da res ponsabilidade de todos!” Muitas vezes as pessoas pensam que as questões ambientais são comple xas e que não dependem delas, sendo pouco relevante se separam o lixo ou se tratam bem a natureza. É impor tante alterar esta ideia, levando a que todos(as) se sintam responsáveis pelo
que acontece com a natureza, contri buindo com o seu comportamento para preservar o ambiente, tal como cada um pode também contribuir para promover a paz.
É urgente retomar a paz com a na tureza e com o planeta Terra, para a própria sobrevivência da espécie humana. Em particular, é importan te a conexão com a natureza para o desenvolvimento da paz interior, bem como é essencial que todos(as) se sin tam responsáveis pelo que acontece com o ambiente.
A paz e o ambiente são da responsabi lidade de todos e, seguramente, todos seremos mais felizes se procurarmos construir um ambiente de paz e se esti vermos em paz com o ambiente!
E a arte pode ajudar a construir a paz consigo mesmo, com os outros e com o ambiente. É nesta perspetiva que sugiro que apreciem as obras apre sentadas nesta exposição itinerante.
Ficha técnica
Direção GORDA, Associação Sócio-Cultural Editor Henrique Dias Freire
OUTUBRO 2022 n.º 167 Mensalmente com o POSTAL em conjunto com o 9.937 EXEMPLARES www.issuu.com/postaldoalgarve
Professor
http://saul2017.wixsite.com/artes
Vale a pena... ARTES VISUAIS
Imagens da exposição “Por um ambiente de Paz” (Biblioteca da UAlg, Gambelas, 2022) FOTOS D.R.
Responsáveis pelas secções: • Artes Visuais
Saúl Neves de
Jesus • Diálogos (In)esperados Maria Luísa Francisco • Espaço AGECAL Jorge Queiroz • Espaço ALFA Raúl Coelho • Filosofia Dia-a-dia Maria João Neves • Letras e Literatura Paulo Serra • Mas afinal o que é isso da cultura? Paulo Larcher e-mail redação: geralcultura.sul@gmail.com publicidade: anabelag.postal@gmail.com online em www.postal.pt e-paper em: www.issuu.com/postaldoalgarve FB https://www.facebook.com/ Cultura.Sulpostaldoalgarve
Responder à vida com a poesia
MARIA LUÍSA FRANCISCO Investigadora na área da Sociologia; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa luisa.algarve@gmail.com


Os “Diálogos (in)espera dos” deste mês resultam de uma conversa, atra vés do Zoom, com o poeta e diplomata Luís Castro Mendes, que foi Ministro da Cultura de Abril de 2016 a Outu bro de 2018
Nasceu em 1950 e, ainda muito jovem, foi colaborador do jornal Diário de Lisboa no suplemento Juvenil entre 1965 e 1967. Embora tivesse vocação para as Letras, a sua família convenceu-o a ir para Direito e em 1974 concluiu a licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. A partir de 1975 iniciou uma lon ga carreira diplomática. Exerceu funções em Luanda, Madrid e foi Cônsul Geral no Rio de Janeiro e depois Embaixador em Budapeste e Nova Deli. Foi também Embaixa dor junto da UNESCO, em Paris e junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo.
Conversámos principalmente sobre a sua ligação ao Algarve e sobre a sua obra literária
Falou com orgulho do seu avô materno, José Rosa Madeira (18901941), que foi relojoeiro em Loulé e um homem da cultura. Interessava -se por arqueologia e a descoberta da escrita do Sudoeste da Península
Ibérica está associada a ele. Contribuiu para o reconhecimento do poeta António Aleixo e junta mente com Joaquim Magalhães, então reitor do Liceu de Faro, reco lheu e registou os poemas ditos por António Aleixo. Referiu que ainda tem em casa alguns rascunhos es critos pelo avô.
Em 2018 a Câmara de Loulé inau gurou uma estátua de homenagem ao seu avô, natural da Freguesia do Ameixial no interior do concelho.
A sua mãe era de Santa Bárbara de Nexe. Após se reformarem, os pais passaram a viver em Faro até ao fim da vida. A ligação ao Algarve também estava presente pela via paterna, na medida em que o seu bisavô paterno era de Lagos.
“Toda a minha vida foi de mudan ças: em criança pelas comarcas do meu pai; em adulto pelos postos da minha carreira. (…) A infância e adolescência foram passadas em Idanha-a-Nova, Angra do Heroísmo, Lisboa, Ilha de S. Jorge, Redondo, Chaves e Leiria.”
Desde criança que passa as férias no Algarve, região à qual sempre manteve ligação. A partir daqui fa lámos sobre Manuel Teixeira Gomes e de alguns trechos da sua escrita.
Para Luís Castro Mendes enquanto poeta e escritor, “Teixeira Gomes é uma referência incontornável que escreveu das mais bonitas páginas sobre o Algarve”.
Falámos sobre o poeta João Lúcio e sobre Sophia de Mello Breyner e a forma como, na sua poesia, geria a evocação de um espaço mítico e
de um espaço quotidiano da vida real, como acontece no Livro Sexto, exemplificado no poema “Caminho da manhã” onde é referido o Merca do de Lagos.
O antigo ministro lembrou os Ca dernos do Meio-Dia. Antologia de poesia, crítica e ensaio lançada em 1958, em Faro, com a coordenação de António Ramos Rosa e que teve grande importância na evolução da poesia no Algarve.
Falámos também da poesia de Nuno Júdice, que escreveu no jornal Diá rio de Lisboa no suplemento Juvenil Outras figuras que na juventude es creveram nesse suplemento foram Luís Miguel Cintra, José Mariano Gago, José Pacheco Pereira, Nuno Reboucho, Jorge Silva Melo, entre outros.
Daqui fizemos a analogia com o suplemento Jovem do Diário de No tícias (DN Jovem) por onde, anos mais tarde passaram alguns jovens que hoje são escritores como José Luís Peixoto, Pedro Mexia, Luís Pal ma Gomes, José Mário Silva, José Carlos Barros, entre outros.
Por fim, surpreendi o meu ilustre interlocutor com uma frase sua, referida há já muitos anos: “Eu respondo à vida com poemas!”. A partir daí foram partilhados alguns detalhes por detrás dos seus livros e sobre os enriquecedores contextos culturais em que foram escritos, que daria para outro artigo!
Luís Castro Mendes rematou dizen do que também usou a poesia como resposta à própria vida política e que a poesia sempre o acompanhou.
Bibliografia de Luís Castro Mendes:
POESIA
1983 - Recados
1985 - Seis elegias e outros poemas
1991 - A Ilha dos Mortos
1993 - Viagem de Inverno
1994 - O Jogo de fazer versos
1996 - Modos de música
1997 - Quadras ao gosto pessoano
1998 - Outras canções
1999 - Poesia reunida: 1985-1999
2001 - Os Dias inventados
2007 - Os amantes obscuros: poemas escolhidos
(1985-2001) – Ed. bilingue, em português e dinamarquês
2011 - Lendas da Índia - Prémio António Quadros
2014 - A Misericórdia dos Mercados
2016 - Outro Ulisses regressa a casa
FICÇÃO
1984 - Areias escuras
1995 - Correspondência secreta
Publicou mais de uma dezena de li vros. A sua obra é considerada pela crítica como “enquadrável numa es tética pós-modernista e revela um universo enigmático onde o fingi mento e a sinceridade, o romântico e o clássico, a regra e o jogo conduzem às realizações mais lapidares e ex
pressivas.”
Foi vencedor do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE / Câmara Municipal de Amarante 2019 com a sua obra Poemas Reu nidos.
* A autora não escreve segundo o acordo ortográfico
16 CULTURA.SUL POSTAL 7 de outubro de 2022 DIÁLOGOS (IN)ESPERADOS
Luís Castro Mendes, poeta, diplomata e antigo Ministro da Cultura em diálogo com Maria Luísa Francisco FOTO D.R.
Pessoa filósofo e a metafísica do Dr. Mora
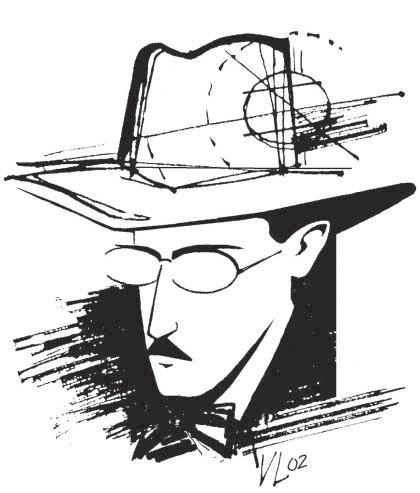 MARIA JOÃO NEVES Doutorada em Filosofia Contemporânea Investigadora da Universidade Nova de Lisboa
MARIA JOÃO NEVES Doutorada em Filosofia Contemporânea Investigadora da Universidade Nova de Lisboa

Ninguém duvida da profun didade de pensamento da poesia de Fernando Pes soa. Porém, o que talvez não seja do conhecimen to geral, é que Pessoa ortónimo escreveu deliberadamente textos filosóficos e criou um heterónimo, António Mora, que muito se dedicou à filosofia. De acordo com a biografia de Pessoa, elaborada por Richard Ze nith, António Mora surge num conto em 1909 “era um louco obcecado com a Grécia que usava toga e vi via num manicómio” em Cascais. O empenho neste texto esmorece mas, anos mais tarde, ressurge como Dr. António Mora, teórico do neopa ganismo que tem, juntamente com Ricardo Reis, a função de trazer os melhores aspectos da civilização gre ga para o mundo moderno.
No mês passado com o artigo “Afi nal como é o mundo?” abordámos o problema ontológico a partir das dificuldades em conciliar a física clássica com a física quântica. Agora veremos como o abordam Pessoa e Mora e que consequências daí ex trair.
Pessoa filósofo coloca a pergunta ontológica primordial: “o que é a realidade?” Em segundo lugar questiona-se sobre se o mundo que vemos pode ser considerado rea lidade. Caso o não seja, que será então? Daqui decorre o problema metafísico que Pessoa enuncia deste modo: “1. O mundo tem um começo no tempo e um limite no espaço? 2. A existência do mundo real é neces sária ou contingente?”
Através de António Mora esta in vestigação adquire uma forma mais sistemática. Num texto intitulado Introdução ao estudo da metafísica estabelecem-se doze princípios ba silares. Não sendo possível, devido ao limite de espaço, abordar todos eles, concentrar-me-ei nos que me parecem relevantes para a questão ontológica. O primeiro responde-lhe de forma directa e sucinta: “1. Há só duas realidades: a Consciência e a Matéria.”
O segundo princípio aborda imedia tamente o centro nevrálgico do qual deriva, para mim, um dos maiores problemas da nossa época: o ma terialismo científico. O Dr. Mora escreve: “2. A Consciência é para nós incognoscível; só podemos saber que ela é consciência. Mas não é só isto. Não pode ser conhecida, não há que haver conhecimento dela. Aqui
lo a que se chama ‘conhecimento’ é uma coisa que só se pode ter do mun do exterior. Conhecer uma coisa é apreendê la sob quantos aspectos ela comporta sob os nossos sentidos. Não pode portanto haver conheci mento da Consciência; porque, mesmo que conhecimento signifi que propriamente consciência, não há consciência da consciência, por muito que pareça que a há. A cons ciência é.”
De acordo com o ponto de vista do materialismo científico, o mundo físico é a única realidade existente. Geram-no forças naturais, impes soais e totalmente desprovidas de valores morais intrínsecos. Não só a vida em geral mas mesmo a vida humana, com os seus sentimentos e desejos, carece de valor ou signi ficado para além daquele que a ela própria se atribui. Esta doutrina considera ainda que todas as expe riências e acções são determinadas unicamente pelo corpo ou por forças impessoais do meio físico. Conclui que a consciência não desempenha qualquer papel pois não havendo a possibilidade de obter dados objec tivos a seu respeito a sua existência não pode ser corroborada. Mora não chega a este resultado aberrante, como vimos acima, afirma que a consciência é incognoscível mas é Não põe em causa a sua existência.
Quanto às diferenças de percepção esclarece-nos o ponto 3: “O mun do-exterior é real como nos é dado.
As diferenças que há entre a minha visão do mundo e a dos outros é uma diferença de sistemas nervosos. Os sistemas nervosos são partes des sa realidade exterior. (...) A ciência estuda — não as leis fundamentais do mundo-exterior, ou Realidade, porque não há leis fundamentais do mundo-exterior: ela é a sua pró pria lei — mas as normas segundo as quais os fenómenos se manifes tam, isto, não com o fim de saber, mas com o fim de utilizar para nosso conforto e proveito os ‘conhecimen tos’ adquiridos.” Aqui existe uma afinidade com a posição kantiana de acordo com a qual nunca jamais po deremos conhecer o que a realidade é em si - aquilo que Kant denominou númeno - podemos apenas conhe cer aquilo que percepcionamos: o fenómeno. Mora reduz também a ambição científica a uma questão de utilidade em vez de conhecimento. Saltamos o ponto quatro no qual se aborda o antropomorfismo que ca racteriza o modo humano de lidar com a natureza, e vamos directa mente ao ponto seguinte no qual se aborda a crescente complexidade do real: “5. Quanto mais a evolução se complica mais complexo e nítido vai sendo o nosso senso da Realida
de. Ela é cada vez mais real, mais material. Se a ‘espiritualidade’ im porta um apagamento do senso das coisas, nada há tão espiritual como uma amiba, e um pargo ou uma pescada têm vantagens espirituais sobre o homem. O espiritualismo, o idealismo são estados regressivos da mentalidade humana; como que saudades de épocas pré-humanas do cérebro em que o Exterior era menos complexo. A tendência espiritualista ou idealista é uma incapacidade de arcar de frente com a complexidade da Natureza. Querer simplificar a Natureza é querer ter dela um sen tido de peixe ou de invertebrado mesmo.” Mora reage fortemente às tentativas de simplificação do real com vista ao apaziguamento. Percebe-se que é com sarcasmo, embora de forma velada, que crí tica o pensamento religioso e o idealismo. Contudo, não se detém a apontar especificamente de que forma é que essa simplificação se dá. O ponto seguinte contribui apenas um pouco para este esclarecimento: “6. Querer encontrar às coisas um íntimo sentido, uma ‘explicação’ qualquer é, no fundo, querer sim plifica-las, querer pô-las num nível em que caiam sob um sentido só — o que aconteceu em épocas idas a bichos nossos antepassados pouco abundantes de sentidos.” O ponto 11. parece retomar em força esta tese de que o esforço em prol da unidade, implica uma simplificação que, por sua vez, implica um retrocesso: “A maioria das manifestações, a que é uso chamar superiores, do nosso espírito, são realmente regressos doentios a estados de consciência anteriores à humanidade. Já se mos trou que o sono dos faquires é uma regressão ao sono hibernal de certos animais. — O domínio do corpo, que os ditos ‘iniciados’ índios e outros pregam, mais não é do que um des vio da inibição.”
No ponto 7. estabelece-se o pro pósito utilitário de toda a ciência, filosofia e arte: “A função própria da inteligência é servir a vida. O em prego da inteligência, em filosofar, só pode ter, pois, legitimamente, um qualquer sentido utilitário. (Querer descobrir a verdade pode ter um fim utilitário no conceito religioso de querer saber qual deve ser a nossa conduta, para obter o paraíso, por ex.). A Ciência deve servir a vida. A arte tem por fim repousar o espírito.
É o sono das civilizações. A filoso fia entra na categoria da arte. — A filosofia foi primeiro uma ‘ciência’: tinha por fim descobrir a verdade para o fim utilitário de nos gover narmos na vida; porque, se se julga que há uma vida futura, com casti gos e recompensas, não é por certo
pouco importante saber-se o que se deve fazer para evitar uns e merecer outros. Hoje a filosofia deve passar a ser uma arte — a arte de construir sistemas do Universo, sem outro fim que o de entreter e distrair, publi cando belos sistemas.” Esta secção posiciona-se de forma displicente com respeito à filosofia, retiran do-lhe o seu propósito intrínseco - o desejo de conhecer, a inquietude intelectual que move o amante da sabedoria - desqualificando-a para uma tarefa de entretenimento. Tal como esclarece mais adiante: “To dos os sistemas filosóficos devem ser estudados como obras de arte. Nenhuma arte é feita com o fim de entreter, mas é para isso que ela ser ve. O artista toma o seu papel mais a sério.”
Sobre a função da arte versa o ponto 10: “A Beleza não existe. É um modo de repouso do espírito. O espírito, à medida que aumenta a sua activida de, busca novos modos de repouso. A arte é o mais elevado deles.” De preende-se que Mora postula que a beleza não é uma propriedade das coisas, daí a sua inexistência, é uma qualidade que o sujeito atribui ao objecto contemplado sendo cons titutivamente subjectiva. Também aqui se verifica o acordo com Kant, na sua terceira crítica, que versa so bre a faculdade de julgar, actuando de forma autártica a respeito da natureza e da arte. Ainda sobre as afinidades entre a metafísica e a ar te, Mora escreve num fragmento:
“A metafísica é uma arte porque
tem as características da obra de arte: a subjectividade (isto é, o ser a expressão de um temperamento), a incerteza da base em que assenta, e a directa inutilidade prática.”
Cumpre precisar que inutilidade não é necessariamente um mal. Mora, num texto intitulado A metafísica na sua essência, também o reconhece: “Só uma longa experiência huma na, acumulada e transmitida, pôde criar um tipo de homem primeiro inactivo, por quaisquer circunstân cias que atenuassem o estado de guerra inevitavelmente primitivo (primordial) entre os humanos, e depois, por apuramento especia lizado desses inactivos, o tipo já propriamente especulativo.”
Na Antiguidade Clássica, berço da nossa civilização, foi amplamente reconhecido que a filosofia - esse amor pelo saber em si mesmo, inde pendente da sua utilidade imediata - nasce do ócio. Quem a ela se dedi ca pode fazê-lo livremente, porque tem a sua sobrevivência assegurada. Facto em virtude do qual a filoso fia recebeu o epíteto de ciência dos deuses. O ócio era então muito bem visto. Contrariamente à nossa épo ca que só valoriza a utilidade e o negócio, que como o próprio nome indica, consiste na negação do ócio (neg-ócio).
17CULTURA.SULPOSTAL 7 de outubro de 2022
FILOSOFIA DIA-A-DIA
Café Filosófico | 20 Outubro | 18.30 AP Maria Nova Lounge Hotel, Tavira Inscrições: filosofiamjn@gmail.com *A autora não escreve segundo o acordo ortográfico
O Algarve de Costa-a-Costa: Tesouros do Algarve
PAULO LARCHER Jurista e escritor

Os planos servem para isto mesmo: a gente faz um muito bem feitinho e mal se precata está tudo voltado de pernas para o ar. Este pensamento um tan to ou quanto melancólico aplica-se ao nosso(1) projeto de viajar à moda antiga de costa-a-costa por este lon go Algarve. “Então que se passa?”, perguntará o leitor alarmado com este toque de pessimismo. É que, estarão lembrados os leitores mais fiéis, esta viagem - vá lá!, peregri nação - teve como linha condutora as paragens do comboio. Esta ideia foi-nos aliás sugerida pelo início das tão aguardadas obras de eletrifica ção e melhoramentos da Linha do Algarve. Pareceu-nos que esta seria uma justa homenagem ao arranque das obras no troço Vila Real de Santo António-Faro.


Ora, se neste troço existe uma so breposição aceitável entre pontos de interesse e estações, já o mesmo não acontece no troço Faro-Lagos. E mesmo no troço anterior existem falhas, que tivemos que colmatar com o recurso ao velho automóvel.
São disso exemplo Alcoutim, Cas tro Marim e Cacela entre alguns outros. De facto, a nossa promessa inicial (e intenção) de utilizarmos exclusivamente o comboio foi aqui
e ali atraiçoada, a bem da descober ta de tesouros do Algarve menos icónicos mas não menos apaixo nantes. E quando iniciarmos o percurso Faro-Lagos a coisa vai piorar mais, pois a linha orienta -se a Norte antes de infletir para Oeste, mas dá-se ao luxo de falhar cidades como Loulé! Quem estiver interessado num resumo da histó ria do caminho de ferro algarvio e dos seus avanços e recuos, pode consultar a internet onde terá um primeiro vislumbre da incapacida de decisória nacional em matéria de grandes obras públicas. Enfim, quando lá chegarmos logo resolveremos esses problemas. Ago ra o que nos compete é referir que o atual trajeto do comboio - com ou sem eletrificação - não vai resolver todas as questões de mobilidade regionais, muito longe disso. Mas aproveitemos o que existe e rega lemo-nos com a beleza tranquila dos troços entrevistos a partir das janelas de uma carruagem (os vidros podiam estar mais lim pinhos…); nós o fizemos e muitos outros também, sobretudo estrangeiros e, sejamos francos, eles são atualmente e continuarão a ser no futuro os grandes utilizadores deste serviço.


Todavia, é com muitas hesitações e saudades já antecipadas que nos pre
paramos para na próxima crónica iniciarmos a segunda pernada desta viagem. Mas, é justo que eu o con fesse: esta suspensão da narrativa deve-se mais ao Homem Cardoso do que a mim. De facto, o meu ami go António é ainda mais guloso que fotógrafo e teimou em fotografar algumas das especialidades da doça ria algarvia e, como uma coisa leva a outra, acabámos por descobrir não um, mas dois tesouros. É conveniente precisar que temos viajado sem a companhia das nossas consortes e em matéria gastronó mica somos mais comedores que fazedores pelo que, sem consulto ria adequada, foi conversando aqui e ali, encostando-nos aos balcões das pastelarias que lá conseguimos entender os rudimentos desta arte. Primeira descoberta: a base de qua se toda a doçaria algarvia é o figo, a amêndoa e o incontornável açúcar. Existem doces chamados “queiji nhos de figo” e outros chamados “queijinhos de amêndoa”, cobrindo estas duas designações uma enor me variedade de feitios e sabores porque, para além deste básico, há que juntar os ovos, a canela, a aguardente de medronho, a gila (que nada mais é que a velha abóbora!), a laranja, o limão, o mel, a erva-doce, etc., etc. Toda esta parafernália dá origem a uma variedade muito acei tável: o doce fino, o morgado, o D. Rodrigo, o arrepiado, o florado e por aí fora, de modo que pedir ao empre gado um “queijinho”, por exemplo, não é suficiente para definir o que realmente queremos. Esqueci-me
de mencionar a alfarroba que com o seu fortíssimo sabor tem um papel não despiciendo na doçaria algarvia, sendo até habitual ver os turistas a pedir uma fatia de bolo composta pelas “três delícias” (o figo, a amên doa e a alfarroba).


Confesso que me fascinou o tom fortemente regional destes ingre dientes, cujas árvores produtoras desde tempos imemoriais cobrem os terrenos a norte da EN 125 até ao barrocal algarvio. Foi talvez por isso que o António, seguindo pistas que aqui e ali íamos coligindo, me fez abandonar o litoral e fazer rumo ao Norte, até arribarmos a S. Brás de Alportel pois, segundo ele, seria então aí a Fons Mirabilis da doçaria do Sotavento.
Mas não. Afinal não! Podíamos na verdade comprar por ali o que qui séssemos, pois tudo está disponível na cidade, mas a matriz da coisa, o verdadeiro útero, era ainda um pou co mais longe. Havia que marinhar pela mítica N2 até ao Sítio do Tesou reiro para podermos finalmente cumprimen tar a D. Fátima Galego, gran de artífice e timoneira de mão e vonta de firmes, há mais de qua renta anos ao leme da sua casa, Tesou ros da Serra! Foi aí que, com a auto
rização da proprietária, o António lhe desarrumou as montras e a sa la, e a mim me pôs a carregar um espelho pesadíssimo para captar a luz do Sol e trazê-la até aos ma ravilhosos bolinhos. Sentimo-nos atores ao fotografar esta tradição viva, tanto mais que a proprietária com uma firmeza cheia de generosi dade insistia para que provássemos um de cada exemplar dos néctares que íamos fotografando. Mas o melhor (apenas do ponto de vista intelectual, claro), estava ainda por chegar. Esperava-nos um mergulho na memória, não de dias, nem de anos ou séculos, mas sim de um bom par de milénios, na forma de uma imensa oliveira ali nasci da em tempos imemoriais e cuja provecta idade está amplamente certificada. Rodeámos devagar (e o António fotografou) o gigantes co lenho num respeito silencioso. Eu pensava nas conversas que esta árvore milenar poderia ter ouvido (se ouvidos tivesse), nas cenas a que assistira, nas línguas e costumes de que poderia ter sido testemunha taciturna. Talvez algum príncipe mouro ou até um dos nossos pri meiros reis se tivessem recolhido um dia à sua sombra. Ou um par de namorados. Ou um homem fa tigado de mourejar na terra. Ou… De tantas formas pensei e repensei que me deu a fome. Então levei dis cretamente a mão ao bolso e comi um dos saborosos queijinhos aí se cretamente guardados...
(1) Esta ideia e respectiva execução cabe-me a mim e ao Mestre António Homem Cardoso, da seguinte maneira: enquanto eu escrevinho ele fotografa.
18 CULTURA.SUL POSTAL 7 de outubro de 2022
MAS AFINAL O QUE É ISSO DA CULTURA?
FOTOS ANTÓNIO HOMEM CARDOSO | D.R.
ESPAÇO AGECAL
Programação nas Artes Visuais
 JORGE QUEIROZ Sociólogo. Sócio da AGECAL Programador de Artes Visuais e Exposições de Faro 2005Capital da Cultura e de museus
JORGE QUEIROZ Sociólogo. Sócio da AGECAL Programador de Artes Visuais e Exposições de Faro 2005Capital da Cultura e de museus
“A arte é a mentira para conhecermos a verdade”.
À
Pablo Picasso
medida que a humani dade, ao longo dos séculos, foi evoluindo do ponto de vista dos co nhecimentos e recursos tecnológicos, as artes acompanha ram essas mutações, surgiram novas concepções, disciplinas, téc nicas e instrumentos de trabalho artístico.
A humanidade expressa-se de várias formas e através da arte, de todas as épocas nos chegaram obras pro duzidas pelas diversas civilizações. Em todos os continentes encontra
mos expressões da espiritualidade humana, a arte inspirada pelo trans cendente e o divino.
Surgiram com o Renascimento e desenvolvimentos científicos “ga binetes de curiosidades”, espólios de viagens e conquistas, museus sobretudo a partir do século XVIII com o iluminismo, salões de arte, mercados para colecções públicas e de particulares com capacidades aquisitivas.
O aparecimento da fotografia no sé culo XIX colocou, à representação realista, a necessidade de encon trar novas concepções e práticas pictóricas. A fotografia mostrava a realidade e o momento, provocou alterações conceptuais, emergiram movimentos artísticos como impres sionismo, cubismo, surrealismo, abstracionismo, entre tantos outros. Nos últimos dois séculos o cinema e o vídeo, mais recentemente a arte digital e inúmeras variantes ligadas às novas tecnologias.
Debates sobre a função da arte e a possibilidade de interpretar signifi cados, envolveram pensadores como Marx e Freud, Nietzsche afirmava que “não existem factos, apenas interpretações”, Susan Sontag de fendia que “o estilo interpretativo escava e ao escavar destrói”, “inter pretar é empobrecer, exaurir num mundo de significados”.

Hoje dispomos de uma quantidade imensa de possibilidades de cons trução de programas que podem integrar conjuntos de obras apre sentados e apoiados em curadorias especializadas, existem ao dispor da programação espólios dos museus nacionais, de colecções publicas e privadas, para além da produção de autoria.
Na direcção e programação das ar tes são indispensáveis cultura geral e conhecimentos pluridisciplinares que permitam compreender o movi mento das ideias, os seus contextos sociais e expressões individuais,
formação adequada e profissiona lização. Neste contexto, amplo e variado, a história e sociologia da cultura e das artes são indispensá veis.
Não há programação em abstrac to, esta não é uma sucessão avulsa de alinhamentos expositivos sem reflexão de prioridades, direcção estratégica e critérios de escolha.
O plano e programa estabelecem-se de acordo com a natureza publica ou privada das instituições promotoras, a missão, se detêm colecções ou es pólios significativos, se prosseguem funções investigativas, educativas e pedagógicas de desenvolvimento sociocultural ou como finalidades o mercado das artes, caso de gale rias de arte, empresas de edição e produção.
A forma de conceber a exposição, de signada por museografia e também cenografia, sobretudo nas que fazem o encontro com as artes performati vas e os audiovisuais.
É fundamental conhecer as ca racterísticas da cidade, dos seus habitantes e visitantes, as exposições devem ser concebidas para acesso de camadas da população com interes ses específicos, de diferentes grupos etários e origens, democratizando o conhecimento e valorizando o local. Em todas as esferas do conhecimen to e de intervenção são necessárias formações nos diversos domínios da cultura, dada a complexidade dos assuntos a especialização das activi dades e temas. Mantem-se no País a necessidade da oferta formação su perior em gestão cultural para níveis de concepção/direcção e gestão dos recursos culturais, com especializa ções e cursos técnico-profissionais em áreas complementares, como produção e museografia, comuni cação externa e interna, economia da cultura, avaliação de actividades, segurança e mobilidades...

*O autor não escreve segundo
acordo
19CULTURA.SULPOSTAL 7 de outubro de 2022
o
ortográfico
PUB.
Lições, de Ian McEwan
 PAULO SERRA Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve; Investigador do CLEPUL
PAULO SERRA Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve; Investigador do CLEPUL
Lições é o mais recente romance do autor britânico Ian McEwan. Como tem vindo a ser habitual, foi lançado em Portugal em si multâneo com a edição original inglesa, no passado dia 27 de setembro. A tradução é de Maria do Carmo Figueira. Todas as suas obras são publicadas em Portugal pela Gradiva.
Talvez a primeira coisa a dizer sobre o livro seja a sua extensão, uma vez que este romance se estende por mais de 600 páginas, atingindo uma dimensão pouco usual nos romances do autor, geralmente bastante breves, centrados em momentos precisos da vida das per sonagens. O tamanho de Lições pode indiciar desde logo que se trata de um romance ambicioso, apresentado como uma “meditação poderosa sobre o curso da história através do espelho da vida de um homem”.
A sinopse do romance descreve-o como “a história íntima épica da vida de um homem através de gerações e convulsões históricas: da Crise de Suez à Crise dos Mísseis de Cuba, da queda do Muro de Berlim à actual pandemia”. Roland Bai nes, o protagonista, “cavalga a maré da história, mas mais frequentemente luta contra ela.”
Narrado na terceira pessoa, a partir da perspetiva de Roland, este livro agarra-nos logo nas primeiras linhas (que podemos inclusive ouvir lidas pelo próprio autor num vídeo de apresentação do romance no canal de Youtube da Gradiva).
“Memória de insónia”
“Era uma memória de insónia, não um sonho. Era outra vez a lição de piano — o chão com mosaicos alaranjados, uma janela alta, um piano vertical novo numa sala vazia, perto da enfermaria.
Tinha onze anos e estava a tentar tocar o que outros talvez conhecessem como o primeiro prelúdio do Livro Um de O Cravo Bem Temperado de Bach, versão simplificada, mas ele não sabia nada disso. Não sabia se era famoso ou desco nhecido. Não tinha quando nem onde. Não conseguia conceber que alguém se tivesse dado ao trabalho de escrever aqui lo. A música, ali, era simples, uma coisa de escola, ou obscura, como um pinhal no Inverno, exclusivamente sua, o seu labirinto privado de profunda tristeza. Nunca o deixaria partir.” (p. 11) Este parágrafo inicial, ritmado e burilado como um prelúdio musical, dá o tom ao primeiro capítulo do livro, em que uma memória se torna tão nítida e presente que se torna difícil distinguir, ao longo das primeiras páginas, se a prosa remon ta às vivências de Roland, aos 11 anos, ou se estamos simplesmente a ouvir os pensamentos de um Roland com 37 anos que se deixa evadir até às suas próprias memórias:
“Nos últimos tempos, tinha de fazer um esforço de concentração para se manter durante muito tempo no presente. O pas sado era muitas vezes uma passagem de memórias para fantasias inquietantes. Ele atribuía-o a cansaço, ressaca, con fusão.” (p. 28)
Ao longo do capítulo inicial são tão constantes quanto subtis estes avanços e recuos entre o menino e o adulto. O Roland que aos 11 anos sente um misto de fascínio com desejo, ao mesmo que tempo que encontra em Miss Miriam Cornell, a professora de piano, um subs tituto para a mãe. Miss Cornell dar-lhe-á lições de piano da mesma forma que, anos depois, toma a cargo a educação sexual de um jovem Roland, moldan do-o indiferenciadamente para as lides domésticas, para ser um pianista exímio e um esmerado amante. Por outro lado, o Roland adulto atravessa uma espécie de crise de “meia-idade” quando se vê aban donado pela mulher Alissa. Uma fuga tão súbita e inexplicável que não só deixa Roland Baines a cuidar do filho Lawren ce, com 7 meses, como o lança sob a mira de uma investigação policial. Até que os postais que a mulher vai enviando na sua passagem pela Europa o ilibam do seu súbito desaparecimento (e de uma suspeita de assassinato), tornando cla ro que Alissa simplesmente não estava pronta para a “mtrndd” (p. 106), como se a própria abreviatura desnecessária de “maternidade” fosse antes uma palavra truncada que ela se vê incapaz de expli citar por escrito. Como consequência, Roland vê-se então inquebrantavelmente acorrentado a assumir as funções da mãe em exclusivo.
O constante rememorar perpassa a narrativa, embora as analepses sejam definidas mais claramente nos capítulos seguintes. Numa narrativa que se desfia como um novelo, repartida entre vários momentos históricos e pela retrospetiva
de várias personagens, explicita-se gra dualmente como Roland, o mesmo que em tempos estudou num colégio interno, povoado com os “sotaques cockney” dos colegas (p. 85), está agora falido e sem rumo profissional. A reinvocação cons tante de memórias acentua a natureza desconstruída de um romance de forma ção escrito às avessas, em que o Roland adulto se confronta com o jovem que, aos 14 anos, apesar do sentido de promessa e da educação recebida, deixou perder a vida. Um jovem que prometia ser um pia nista brilhante, como se augurava num jornal, torna-se depois um “medíocre satisfeito”, vagueando por vários empre gos, sem terminar a sua formação, entre instrutor de ténis, jornalista freelance, e aspirante a poeta (a mulher também almejava escrever um romance). “Era bastante comum Roland e os rapa zes da sua idade, ao tornarem-se adultos em Inglaterra, pensarem nos perigos que nunca tiveram de enfrentar. Com leite gratuito em garrafas de quinze mililitros, o Estado garantira o cálcio para os os sos do jovem Roland. Tinha lhe ensinado um pouco de latim e física de graça e até alemão. (…) A sua geração também teve mais sorte do que a seguinte. Aninhada confortavelmente no colo da história, nu ma pequena prega de tempo, a comer o creme todo. Roland tivera a sorte histó rica e todas as oportunidades. Mas ali estava ele, falido, numa época em que o Estado bondoso se tinha tornado uma ví bora. Falido e dependente do que restava da sua fartura — o soro do leite.” (p. 149)
para onde ia. Para chegar ali vinda da Ucrânia soviética teria atravessado ou tros países (…) Um desastre numa central nuclear, uma explosão e um incêndio num local distante chamado Cherno byl.” (p. 49)
infância de Roland, em recuos sucessi vos, desde que vivia na Líbia, em Trípoli, até à sua entrada num colégio interno britânico aos 11 anos.
“Ele e os pais tinham chegado a Londres, vindos do Norte de África, no final do Verão de 1959. Dizia se que estava a haver uma onda de calor — uns meros trinta graus centígrados — «abrasador», uma palavra nova para Roland.” (p. 53)
Chernobyl
Como se todos estes reveses não bas tassem a uma vida soçobrada, Roland atravessa ainda um momento de crise, como subitamente nos é dado a entender, de forma ligeira: “abriu o jornal para ler outra vez a manchete. Era uma espécie de ficção científica, sem graça e apoca líptica. Claro. A nuvem sempre soubera
Muitos
Depois de cerca de duas dezenas de pá ginas entre recordações e descobertas, a ação situa-nos assim, finalmente, num dia frio na Primavera de 1986. Esta nuvem que ameaça particularmente as crianças leva-o a procurar iodo, pois “protegia a vulnerável tiróide das radiações” (p. 50). Mas a sua passagem por várias farmá cias é em vão pois está esgotado. A nuvem radioactiva que chega à Grã Bretanha obrigá-lo-á a calafetar janelas, a separar a roupa por causa das poeiras, a desinfec tar-se cuidadosamente no banho. Uma série de medidas que nos remetem para um outro período da história bem mais recente, onde se combatia um inimigo igualmente invisível que se transportava pelo ar, em que a negligência de certos governos e a sensação de imunidade pa recem ter permanecido impunes: “A manchete não era tão alarmante como o título que estava por baixo em letras mais pequenas: «Autoridades de saúde insistem que não existe qualquer risco para a população». Exactamente.
A barragem vai aguentar. A doença não vai espalhar se. O presidente não está gravemente doente. Das democracias às ditaduras, a calma acima de tudo.” (p. 49)

A metáfora da nebulosa, como ameaça externa, atravessa igualmente a narrati va, com novos cambiantes, como quando se descreve a nuvem “que pairava sobre as relações familiares. Essa nuvem era uma característica aceite da vida.” (p. 68)
Ou ainda a nuvem como símbolo de ilu são, como poeira nos olhos: “Por toda a Europa havia uma nuvem de auto ilusão. Um canal de televisão da Alemanha Oci dental convenceu se de que o miasma radioactivo não contaminaria o Ociden te, mas apenas o Império Soviético, como que por vingança.” (p. 98) É também através desta nuvem que se estabelecem subtis relações entre o Leste e uma ilha que se quer acreditar isolada do mundo.
A guerra como constante histórica
Lançadas as principais pistas da intriga no primeiro capítulo, no capítulo seguin te acompanhamos exclusivamente a
O capítulo dois abre assim com um tom predominantemente narrativo, disposto a arrumar a vida do jovem Roland, ao mesmo tempo que desfia a história dos pais (Robert Baines, o pai, é capitão de um contingente do exército inglês na Líbia) e, depois, no capítulo terceiro, a história de Jane Farmer, a mãe da sua mulher Alissa, que percorre a Alemanha no rescaldo da Segunda Guerra.
A guerra como constante histórica per passa estas várias vidas, ficando clara a ideia de que por muito distantes e remotos que sejam os acontecimentos o destino é moldado por eles: “Roland reflectia de vez em quando sobre os acon tecimentos e acasos, pessoais e globais, minúsculos e monumentais que tinham formado e determinado a sua existên cia. O seu caso não era especial — todos os destinos são criados de forma seme lhante. Não há nenhum acontecimento público que tenha tanto impacto sobre a vida das pessoas como a guerra.” (p. 217)
O autor entrelaça assim nesta magistral narrativa as vidas privadas das várias personagens com os principais aconteci mentos da história contemporânea das últimas décadas, desde a Primeira Guer ra, até à recente pandemia, passando por Dunquerque, pelo final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, uma Alemanha divida pelo Muro de Berlim, a ameaça de uma Terceira Guerra, a Guerra das Malvinas, etc.
Um romance que nos fala das lições de um jovem como quem exorta a Huma nidade a recordar as lições que a História nos tem dado e continua a dar, ainda que nem sempre procuremos atentar nos seus ensinamentos.
Ian McEwan nasceu a 21 de junho de 1948, em Aldershot, Inglaterra. Vive atualmente em Londres. É autor de mais de uma dezena de romances, como os mais recentes Numa Casca de Noz, Má quinas como Eu, e A Barata. Muitos dos seus livros foram adaptados para o gran de ecrã: O Jardim de Cimento; A Criança no Tempo (vencedor do Whitbread Award 1987, adaptado a telefilme); O Inocente; Estranha Sedução; O Fardo do Amor; Amesterdão (vencedor do Booker Prize em 1998); Expiação (prémios US National Book Critics Circle 2002 e WH Smith 2002 para o melhor livro de fic ção); Na Praia de Chesil (nomeado para Galaxy Book of the Year 2008 nos British Book Awards onde o autor foi também nomeado para Reader’s Digest Author of the Year); A Balada de Adam Henry (com interpretação de Emma Thompson).


20 CULTURA.SUL POSTAL 7 de outubro de 2022
Livro
conta a história íntima épica da vida de um homem através de gerações e convulsões históricas Ian McEwan é autor de mais de uma dezena de romances FOTO HELEN CATS / D.R.
dos livros de Ian McEwan foram adaptados para o grande ecrã FOTO ANNALENA MCAFEE / D.R.
Os Abismos, de Pilar Quintana

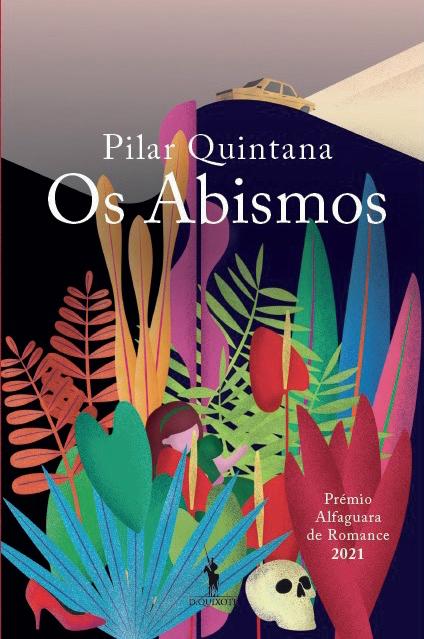
por ser tão ausente, mesmo estando presente, e fria com a filha, como a sua mãe foi com ela. Claudia-filha consegue a proeza narrativa de nos dar conta da indiferença e por vezes mesmo do desprezo da mãe sempre de forma isenta, distanciada, como se nem se apercebesse do desamor a que é votada. Depois de uma história que corre mal, a mãe, em depressão, prefere claramente ficar na cama a ler revistas, perdida em histórias trá gicas de atrizes como Grace Kelly ou Natalie Wood, ou o desaparecimento inexplicado de Rebeca.
Os Abismos, de Pilar Quintana, com tradução de Pedro Ra poula, é uma das novidades da Dom Quixote na rentrée editorial. Um ano depois de A Cadela, um dos grandes livros de 2021, finalista do National Book Award em 2020, Pilar Quintana presenteia-nos com um romance de tensão psicológica crescente, que recebeu o Prémio Alfagua ra 2021. São cerca de 200 páginas que precisam ser lidas de uma assentada, tal como acontecia no romance anterior. A linguagem é igualmente límpida e sóbria, mas a narrativa é-nos agora contada pela perspetiva de uma criança, permitindo ao leitor partilhar da sua perspetiva ingénua dos acontecimentos. Contudo, a ingenui dade, e com ela a infância, também tem um fim…

Claudia tem cerca de nove anos e é filha única. Os acontecimentos que nos rela tam giram sempre à volta da mãe, que apelida a filha de “homónima”. O pai, com idade para ser seu avô, passa os dias no supermercado, que gere com a irmã, pelo que Claudia só recebe afeto, silencioso e distraído, quando ele chega a casa ao final do dia. Enquanto isso, a casa ganha vida própria, com uma selva de plantas que pa recem sobreviver mesmo sem cuidados, adensando o mistério no coração da nar rativa – à semelhança do que acontece em A Cadela, a natureza selvagem e indómita parece uma analogia das pulsões mais profundas das personagens femininas.
Claudia-mãe decidiu não trabalhar pois não queria ser uma mãe descuidada como a sua. Curiosamente, ambas as mães pas sam o tempo todo em casa, e Claudia acaba
Ao longo da narrativa, são múltiplos os abismos que surgem e inúmeras as alusões a finais trágicos de mulhe res infelizes, presas em casamentos inanimados, criando-se um ambiente opressivo e desanimador para uma criança que apenas reclama algum afeto físico e algum elogio da mãe en simesmada. Por fim, quando Claudia finalmente compreende que a mãe nunca a tratará com o carinho que ela dedica à sua boneca Paulina, é a altu ra de tomar o seu destino nas mãos, abandonando definitivamente a inge nuidade e, também, a sua inocência. “Queria enfrentar novamente o abismo, sentir qualquer coisa agra dável na barriga e aquele medo, a vontade de saltar e fugir.” (p. 124)
Os Abismos não nos atinge visceral mente como o romance anterior, em que as peças só se encaixam quando saímos da história e nos permitimos respirar. Há um paralelismo claro
Simón, de Miqui Otero
com o romance Rebecca, de Daphne Du Maurier. A pujança desta narra tiva reside na sobriedade da escrita, nos indícios subtis que espelham o triste drama de uma criança que
medra como uma planta bravia, apesar do descuido e agruras e, mui to especialmente, no anulamento da autora, que deixa os mecanismos narrativos falarem por si.
Simón, de Miqui Otero, com tradução de J. Teixeira de Aguilar, foi agora publicado pela Dom Quixote.
Vencedor do prémio OJO Crítico 2020, apareceu em todas as listas de melhores livros do ano das principais publicações da imprensa espanhola. Muito bem recebido pelos leitores e pela crítica, tem já um pro jeto de adaptação audiovisual.
Este livro com mais de 400 páginas é afi nal a história de uma vida inteira. A vida de Simón - pelo menos até aos seus trintas. Simón tem 8 anos, em 1992, passa os dias no bar da família, e nutre uma adoração pelo seu “primoirmão” Ri cardo Rico, dez anos mais velho, que
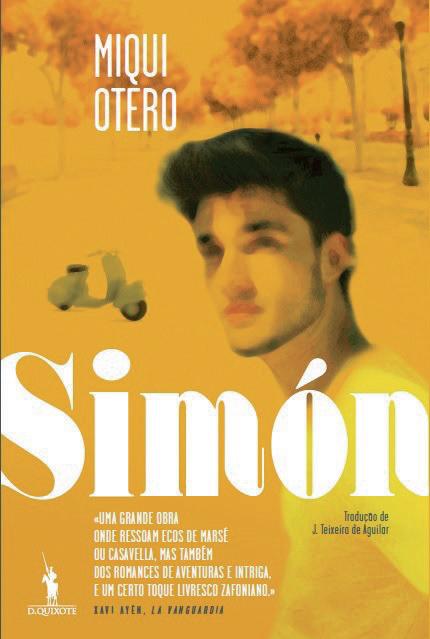
lhe apresenta o mundo como uma aventura, mostra-lhe truques de ma gia, o introduz nos romances de capa e espada e lhe sublinha os livros que recomenda. Rico vive ele próprio uma estranha história de mistério, propen so a desaparecer na noite e a aparecer no dia seguinte com uma Vespa. Páginas depois, o primo desapareceu su bitamente na noite, sem ninguém saber dele ou o que aconteceu a um suposto “tesouro” de que todos falam, mas nin guém sabe de que se trata. Contudo, a sua influência perdura, nomeadamente a forma (nefasta?) como levou Simón a confiar que a ficção explica a vida e a imaginar-se como um “espadachim de fim de século” (p. 121). É emblemático o episódio em que Simón tenta calçar os “ténis gigantes Converse All Star pre tos” que o primo Rico lhe deixou aos pés da cama, anos antes (p. 73).
Dois anos depois, Simón trava ami zade com uma jovem da sua idade, a fascinante Estela, de cabelo verde (que
evoca Rosa, de A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende), a quem passa a aju dar a vender livros na feira da ladra de domingo. Entretanto, continua a procurar pistas que expliquem o que aconteceu ao primo, ao mesmo tempo que começa a “inventar-se” como uma personagem de livro, a construir-se, a “acreditar nela”, a “agir como tal” (p. 172); inclusivamente Simón pensa no discurso rebuscado e floreado dos romances que lê.
Com saltos temporais a cada 2 anos, aproximadamente, entre 1992 e 2018, acompanhamos o percurso de Simón.
“O nosso herói não sabia uma coisa que talvez o tivesse consolado e é uma pena que ninguém lho dissesse: Simón, vais ver, crescerás, às vezes mesmo que não queiras e às vezes depressa de mais. Olha: daqui a duas páginas apenas terás mais dois anos.
Sim, prometo-to. Não, não te posso prometer mais nada. Para já.” (p. 74)
Um romance de formação atual, ple
no de aventuras pícaras, com desfecho cómico; peripécias que ilustram uma frase que ressoa ao longo da narrativa: “o acaso pode desordenar a vida mas ordena a ficção” (p. 70). É também nes ses momentos determinantes em que a vida se desordena para Simón que o narrador se imiscui, como uma voz off que fala com o leitor, num jeito cúmpli ce, sabendo que a personagem não nos ouve: “Não abras os olhos. Enquanto não o fizeres tudo é possível.” (p. 282) Um romance original e encantatório que é também uma elegia ao poder da li teratura de transfigurar ou, pelo menos, servir como um escape de consolação às nossas vidas. A certa altura, podemos ler como afinal os romances são “para se lerem enquanto se tenta procurar uma vida e não para os viver por den tro nem para os protagonizar” (p. 286). Resta saber se nessa épica bebida nos livros, com que por vezes imaginamos a nossa existência, o tempo, que age co mo o verdadeiro critico literário, tem o
condão de nos acordar da desfaçatez de nos sonharmos como personagens.
Miqui Otero tem dois romances an teriores ao sucesso de Símon, que esperamos virem a ser publicados por cá. Este é considerado o seu melhor li vro, um dos grandes romances do ano, numa voz muito própria em que res soam ecos de Marsé ou Mendoza.
21CULTURA.SULPOSTAL 7 de outubro de 2022
Obra recebeu o Prémio Alfaguara 2021
Livro é considerado um dos grandes romances do ano
LETRAS & LEITURAS
A escritora colombiana Pilar Quintana FOTO RICARDO RONDÓN / D.R.
Miqui Otero tem dois romances anteriores ao sucesso
de
Símon
FOTO
ELENA BLANCO / D.R.







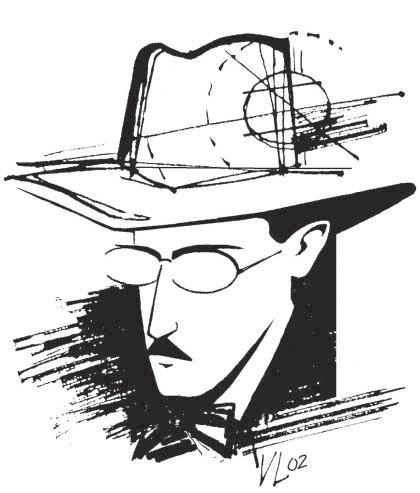 MARIA JOÃO NEVES Doutorada em Filosofia Contemporânea Investigadora da Universidade Nova de Lisboa
MARIA JOÃO NEVES Doutorada em Filosofia Contemporânea Investigadora da Universidade Nova de Lisboa








 JORGE QUEIROZ Sociólogo. Sócio da AGECAL Programador de Artes Visuais e Exposições de Faro 2005Capital da Cultura e de museus
JORGE QUEIROZ Sociólogo. Sócio da AGECAL Programador de Artes Visuais e Exposições de Faro 2005Capital da Cultura e de museus


 PAULO SERRA Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve; Investigador do CLEPUL
PAULO SERRA Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve; Investigador do CLEPUL