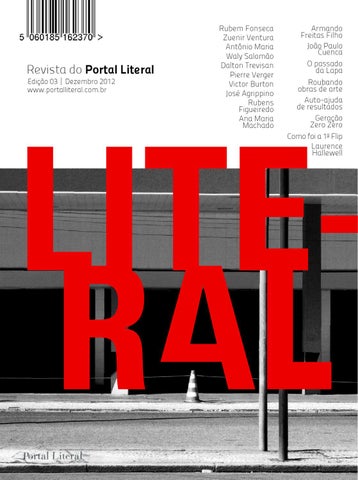Revista do Portal Literal Edição 03 | Dezembro 2012 www.portalliteral.com.br
Rubem Fonseca Zuenir Ventura Antônio Maria Waly Salomão Dalton Trevisan Pierre Verger Victor Burton José Agrippino Rubens Figueiredo Ana Maria Machado
Armando Freitas Filho João Paulo Cuenca O passado da Lapa Roubando obras de arte Auto-ajuda de resultados Geração Zero Zero Como foi a 1a Flip Laurence Hallewell
Revista Literal 1
Expediente
Realização Conspiração Filmes Produtor Executivo Luiz Noronha Curadoria Heloisa Buarque de Hollanda Coordenação Elisa Ventura Editor (site) Ramon Mello Co-editora (site) Manoela Sawitzki Revista Portal Literal n. 3 Editor (revista eletrônica) Bruno Dorigatti Colaboração Cássio Loredano (caricaturas) Direção de Arte e Design Retina78 Foto capa e p. 2 e 3 Christiano Menezes Agradecimentos Cássio Loredano, pela cessão das caricaturas que ilustram esta edição.
www.literal.com.br
Patrocínio
Revista do Portal Literal
A Revista Literal foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição Não Comercial - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada. © 2012 http://creativecommons.org.br Todos os esforços foram envidados no sentido de garantir o devido crédito aos detentores de direitos autorais e de imagem. Para os materiais que não puderam ser identificados e creditados com segurança, o direito está reservado. No caso de um detentor se identificar, faremos com prazer constar o crédito nas impressões e edições seguintes.
Sobre esta edição Por Bruno Dorigatti
Toda antologia é uma tarefa ingrata, já que cheia de dúvidas. Foram algumas semanas lendo tudo o que foi publicado na revista Idiossincrasia, deste Portal Literal, nos últimos 10 anos. Outras semanas selecionando alguns dentre as centenas de textos para procurar dar uma boa amostra do que foi produzido nessa década pelo site.
O que nos leva a incluir um texto em detrimento de tantos outros é sempre algo muito subjetivo, embora tentamos aqui ser o mais objetivo, tentando alcançar uma representatividade do que foi relevante e registrado no “calor da hora”, digamos assim. A intenção foi apresentar uma pequena amostra dos mais significativos, seja pelo assunto, pelo texto em si, pelo que representam ainda hoje dentro deste panorama cultural e literário do país.
Pouco ou quase nada foi alterado nos textos, até porque a intenção sempre foi fazer um panorama retrospectivo. Alguns textos ganharam um pequeno box ao final. Outros, apenas uma Nota do Editor entre colchetes e marcada como NE. Por fim, alguns nem disso precisaram. Foi mantida ainda a grafia original de quando os textos foram escritos.
Comecei a colaborar com o Portal Literal em 2004, passei a integrar a redação em 2005, como repórter e subeditor e, alguns depois, como editor, onde fiquei até 2010. Só posso agradecer a imensa generosidade, carinho e atenção que sempre tive de Heloisa Buarque de Hollanda, Cristiane Costa, Elisa Ventura, Su, Omar Salomão, Valeska Zamboni, Cecilia Giannetti, Ramon Mello. Com eles, aprendi muito sobre tudo, incluindo aí jornalismo e até literatura. Agradeço também a Giuseppe Zani, parceiro da Petrobras, que continua acreditando no projeto. Contei igualmente com eles para elaborar estas edições especiais, assim como com o estúdio de design Retina78, responsável pelo projeto gráfico e a diagramação. À eles, o meu agradecimento pelos acertos. As eventuais falhas na edição deste número, porém, são todas minhas.
4 Revista Literal
SUMário Apresentação Oficina da palavra, por Heloisa Buarque de Hollanda Ousadia no meio da bolha, por Luiz Fernando Vianna
pg 06
Antônio Maria, por Joaquim Ferreira dos Santos
pg 12
Editora Sextante, auto-ajuda de resultados
pg 22
Dalton Trevisan, por Aldir Blanc
pg 24
A odisséia de Verger, por Nei Lopes
pg 26
Waly Salomão, a poesia no poder
pg 32
PanAméricas vivas de José Agrippino, por Gérson Trajano
pg 38
Ana Maria Machado, do desbunde à ABL
pg 42
pg 08
Flip, ano um pg 48 Paraty, 16 dias e 40 mil toques, por JP Cuenca
pg 52
Os bons burgueses de Schnitzler
pg 56
Rubens Figueiredo e o escritor como transtorno
pg 60
Armando Freitas Filho, por Fabio Weintraub
pg 66
Victor Burton e os dilemas do design gráfico
pg 72
Roubando obras de arte, por Carla Müllhaus
pg 74
A primeira vez de Rubem e Zuenir
pg 80
O passado da Lapa, por Álvaro Costa e Silva
pg 86
Geração Zero Zero, por Nelson de Oliveira
pg 90
Laurence Hallewell e o livro no Brasil
pg 94
José, por Rubem Fonseca pg 98
Revista Literal 5
bem literal 6 Revista Literal
heloisa buarque de hollanda Oficina da Palavra
O Portal Literal nasceu no início deste século, mais precisamente em dezembro de 2002. Estávamos num momento de especial encantamento com as perspectivas da literatura na internet, sua prática descentralizada, um horizonte ainda por ser explorado em mil possibilidades expressivas. Portanto, um locus perfeito para o acesso ampliado da obra de autores já reconhecidos e da hospedagem da palavra dos novíssimos dividindo entre si o mesmo espaço e tempo. Nessa época, juntaram-se Luiz Noronha, da Conspiração Filmes, Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles, José Rubem Fonseca, Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura para uma incursão literária nos labirintos www, com o patrocínio da Petrobras, parceira desde o início do projeto. Fui convidada para ser curadora do Portal, convite que aceitei imediatamente, sem nenhuma hesitação. Daí para frente, desenrolou-se uma história linda de namoro, confronto e negociação entre a palavra literária e o potencial daquele novo espaço, ainda nebuloso. Cada autor mereceu um site personalizado, feito a muitas mãos, num trabalho experimental de plataformas e modelos que pudessem expressar os muitos sentidos da obra de cada um. O Portal foi lançado numa grande festa de pré-ré-
veillon no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Estava fincada a bandeira da literatura brasileira em terras ainda não colonizadas. Além dos autores titulares do Portal Literal, foi criada, por sugestão de Luiz Noronha, jornalista tarimbado, uma revista literária totalmente on-line e atualizada diariamente. O nome escolhido para a Revista foi Idiossincrasia, consensualmente considerada a perfeita tradução da atmosfera do campo literário. Brincadeira ou não, o nome pegou e transformou-se numa marca forte da presença da literatura brasileira na internet. Vários editores passaram pela nossa Idiossincrasia. Luiz Fernando Vianna, o primeiro, que deu o tom editorial que a revista manteve durante todos esses anos. Em seguida, vieram Cristiane Costa, com sua paixão pelo livro, Cecilia Giannetti que ajustou com olho certeiro o ethos literário ao universo nerd, Bruno Dorigatti, ligado em pautas inovadoras, Bolívar Torres, e, finalmente, Ramon Mello e Manoela Sawitzki, poeta e escritora, que chegam agora com força total. Nesses 10 anos, o Literal teve muitas idas e vindas. O compromisso de acompanhar a evolução acelerada do ambiente virtual fez com que mudássemos o perfil do Portal mais vezes do que previmos. O Portal Literal focou progressivamente na agilidade da internet trazendo a informação antes que ela se consolidasse em notícia, agregou várias plataformas como a Rádio Literal, a TV Literal, as plataformas transmídia, ofereceu oficinas literárias e finalmente reformulou sua navegação para formatos 2.0, mais participativos e capazes de abrigar a palavra e a criação de seus leitores. Foi uma longa jornada. Agora, oferecemos mais uma surpresa no território da palavra. Lançamos, como consolidação destes 10 anos de trabalho, quatro números especiais da Revista Literal, com a curadoria de Bruno Dorigatti e o design da Retina78, que oferece em formato de aplicativo uma primeira seleção do nosso acervo • Revista Literal 7
ousadia no meio da bolha
8 Revista Literal
luiz fernando vianna Ousadia no meio da bolha
Participei da concepção do Portal Literal, ao lado de Luiz Noronha, Heloisa Buarque de Hollanda e outras pessoas, durante minha primeira passagem pela Conspiração, entre 2000 e 2001. E voltei à empresa em 2002 para pôr o portal no ar e editá-lo, o que fiz até abril de 2004, quando me transferi para a Folha de S. Paulo. Creio que esse período inicial do Literal está marcado pelas vantagens e desvantagens inerentes à megalomania que dominava as ações na internet naqueles anos. Juntar cinco dos mais importantes autores nacionais num só endereço da internet já era uma ideia bastante ousada. Ela só se concretizou graças à admiração que uns sentiam pelos outros, sentimento que em grande parte se acompanhava de outro, a amizade. Verissimo e Zuenir, por exemplo, reforçaram muito, durante as reuniões do projeto, os laços que já os uniam. Essas reuniões foram as etapas mais prazerosas do início do Literal, temperadas pelo humor de Rubem Fonseca e pela sabedoria de todos. Delas também participava a agente literária Lucia Riff, sem a qual o portal não teria nascido. Estávamos, então, no olho do furacão do que se convencionou chamar de bolha da internet. Imaginava-se tudo grande, fadado à prosperidade e à longevidade. Não demorou
muito para todos os que tínhamos planos para a rede aprendermos que os obstáculos são grandes. No caso do Literal, o tamanho do projeto teve o mérito de mostrar que era possível a literatura ocupar um lugar de destaque na internet, atraindo um patrocinador de peso (Petrobras) e oferecendo a um público jovem novos caminhos de acesso às obras de grandes autores. A versão animada das Cobras, de Verissimo, é um exemplo. E o portal chegou num momento em que se buscavam formas de se fazer jornalismo de qualidade em suporte digital. A experiência mais importante foi a do site no.com, depois transformado em No Mínimo. No Literal, procuramos contribuir com a revista on-line Idiossincrasia, que continha resenhas, entrevistas com escritores e espaço para novos autores (na seção Exercícios Urbanos). Observando hoje, pode-se dizer que sonhamos grande demais, e que o melhor, desde o início, seria mesmo se dedicar aos cinco escritores que eram a razão de ser do projeto. Mas era absolutamente legítimo querer ter os cinco como âncoras de algo que se desdobraria em outros aspectos. Dentro das limitações da época, em que o uso de vídeos ainda era raro e não havia muitas experiências em que se basear, o plano inicial cumpriu seu objetivo. Depois, o Literal encontrou a sua cara, assim como diversos projetos de literatura e jornalismo encontraram as suas para sobreviver num meio tão vasto, de audiência enorme mas dispersa e no qual continua árdua a busca pela sustentação financeira. Sobre o texto: Indico a série “José”, de Rubem Fonseca, por mostrar o engajamento dos autores no projeto do portal e pela beleza dos textos autobiográficos. Foi um trabalho tão importante que o escritor depois o lançou em livro pela Nova Fronteira. Marcou muito a primeira fase do Literal e fecha esta edição•
Revista Literal 9
10 Revista Literal
Revista Literal 11
ant么 nio maria 12 Revista Literal
antônio Noites que não envelhecem maria Organizador de Benditas sejam as moças (Civilização Brasileira, 2002), Joaquim Ferreira dos Santos diz que optou por um volume de crônicas sobre encontros e desencontros amorosos porque este era o grande tema de Antônio Maria, como reforça a publicação de O diário de Antônio Maria (Civilização Brasileira, 2002). Para ele, o boêmio e solitário Maria teve na sua despretensão literária uma chave para se tornar um grande cronista. Por Luiz Fernando Vianna Publicado originalmente em dezembro de 2002
Revista Literal 13
Ant么nio Maria (1921-1964), por Loredano
14 Revista Literal
Em Feliz 1958 (Record, 1997), Antônio Maria era um dos personagens. Em Noites de Copacabana – Antônio Maria (Relume-Dumará, 1996), ele era o personagem. Autor desses dois livros, Joaquim Ferreira dos Santos avançou mais em 2002 na sua relação com o grande cronista e compositor, nascido em Pernambuco em 1921, mas eternizado nas madrugadas de Copacabana, como a em que morreu em 1964: para a editora Civilização Brasileira, organizou o volume de crônicas Benditas sejam as moças, reunião de textos escritos em 1959 e 1960, e fez o prefácio de O diário de Antônio Maria, escrito entre 12 de março e 19 de abril de 1957 e que até hoje estava inédito. Jornalista com 30 anos de carreira, tendo trabalhado em Veja, Jornal do Brasil, O Dia e atuando como cronista no JB [NE. atualmente, é colunista e cronista d’ O Globo], Joaquim explica nesta entrevista os critérios de sua seleção, diz porque vê Maria como um dos cronistas que sobreviveram com mais força ao seu próprio tempo, e aponta uma mudança de rumo que fez o gênero novamente ganhar vida nos jornais.
Qual foi o critério usado para selecionar as 47 crônicas de Benditas sejam as moças dentro do amplo manancial do Antônio Maria? Joaquim Ferreira dos Santos. A editora havia comprado os direitos de publicação das crônicas escritas para a Última Hora em 1959 e 1960. É uma época muito boa porque o [Carlos] Lacerda era governador do Rio, e o Maria implicava muito com o Lacerda. Acho que com este material dá para fazer mais dois livros: O humor de Antônio Maria, porque ele era um grande escritor de humor e
um profissional disso, escrevendo para o rádio inclusive, e O Rio de Antônio Maria, com crônicas sobre a cidade. Mas acabei ficando na relação homem-mulher. Em primeiro lugar, porque é uma produção muito grande, e depois porque acho que é a grande referência sobre Antônio Maria. Quando se fala em Antônio Maria, o que vem? Dor de cotovelo, fossa, desavença emocional, a noite, não só no horário mas também no clima. Acho que o grande tema dele é a questão amorosa. Ele só pensava nisso, nos encontros e desencontros amorosos. A mulher está presente o tempo todo na vida dele. Outro dia eu estava reparando que, dos filhos, ele fala mais no diário da Maria Rita do que do Léo [Antônio Maria Filho]. Ele estava sempre olhando a mulher. E, ao escolher esse tema, fugi de mais uma antologia de crônicas, de mais uma tentativa de se escolher “o melhor de Antônio Maria”. E que no caso seria ainda mais limitado, porque seria “o melhor de Antônio Maria em 1959 e 1960”. Revista Literal 15
16 Revista Literal
O diário cobre um período muito curto. Mesmo assim, você acha que ele dá conta de quem foi Antônio Maria? Acho que o diário é uma espécie de making of das crônicas. Porque o que é a crônica? É um meio-termo entre jornalismo e literatura. É jornalismo porque você não dispensa os acontecimentos, e é literatura porque você tenta transcender os acontecimentos. E o Antônio Maria é bem isso, porque ele precisava de fatos para escrever, ele saía pela noite para pegar as histórias. Ao contrário do Rubem Braga, que ficava na cobertura olhando o mundo, acho que o Maria tinha mais os pés no chão, tinha um corpo-a-corpo com os acontecimentos. Então, o diário faz parte disso. As crônicas já eram muito confessionais. No início do diário, aliás, ele transcreve algumas crônicas. Eu gostaria de ter feito um acompanhamento do que ele escreveu naquele período. Acho que muitos daqueles assuntos que estão no diário estavam nas crônicas, e acredito que de um jeito não muito diferente. Ele sempre se expôs muito, sempre confessou as derrotas, os fracassos. Não tinha esse prurido de preservar a imagem. Ele era o primeiro a se esculachar. Em público, por escrito. É pura especulação, mas o fato de já ser tão confessional nas crônicas pode tê-lo levado a desistir do diário? Eu acho que ele parou porque não deu conta. Ele tinha não sei quantos textos para escrever todo dia. Às vezes, no diário, ele escrevia sobre um dia, dois dias depois. Para fazer um diário, você precisa ter uma rotina. Ele ia dormir às vezes 10 da manhã e acordava às 5 da tarde. Chegava em casa, os filhos estavam
saindo para a escola. Então, ter mais um compromisso com um diário era difícil. Uma parte muito boa do diário é quando ele vai para Araxá. Ali ele escreveu todo dia, com um cuidado, uma densidade… Escreveu muito sobre uma musa adolescente que conheceu lá.
Sempre impressiona a quantidade de álcool ingerida e relatada. Para você, um cronista que bebe pouco, deve impressionar como Maria escrevia sempre, direta ou indiretamente, sob o efeito do álcool. O diário é interessante para você ver o roteiro de um carioca daquela época. O Maria só saía para a noite para beber. Ia muito ao Sacha’s, a boate da moda. Mas o que caracteriza mesmo o estilo dele é o texto coloquial. Um texto muito espontâneo, com uma aparência de que é muito fácil escrever. E acho que ele escrevia com facilidade mesmo. Em nenhum momento ele lamenta escrever, acha que é chato. E em nenhum momento, ao contrário do Otto Lara Resende, por exemplo, ele lamentava estar escrevendo textos para jornal em vez de fazer literatura, certo? Não. Eu acho que isso até preservou o Maria, que foi o único desses cronistas que não teve livro publicado em vida. As antologias são posteriores. No diário ele aparece tentando descolar um dinheiro com o José Olympio para publicar as crônicas, mas nem isso aconteceu. Acho que essa é uma diferença dele para os outros. Os outros tinham uma cultura, uma erudição, uma ambição literária, foram até donos de editora. Livro era o objeto deles, o sonho. Maria não, o negócio dele era jornal. Eu acho que isso deu uma musculatura para Revista Literal 17
o texto dele, uma agilidade, uma falta de pose que lhe foi benéfica. Os textos têm uma vivacidade, um frescor, uma leveza que se mantêm até hoje. Ele não tinha pretensões literárias. Era o menos literário de todos os cronistas.
Em Cartas na mesa (Record, 2002), Fernando Sabino escreve que chegava a fazer sete crônicas num fim de semana. E isto era comum entre os cronistas no passado. Hoje, é provável que ninguém conseguisse isso. A matéria-prima era mais farta ou eles eram mais talentosos? Acho que eles eram melhores. E precisavam escrever também. Por mais que tivesse o jabá na noite, o “picadinho relations” (jantares pagos pelos donos de restaurantes e boates ou outros interessados nas atividades do colunista), o Maria corria atrás dos assuntos porque tinha necessidade. E os salários eram menores na época. Só na Última Hora ele tinha duas colunas: o “Romance policial”, que dá um outro livro, e o “Jornal do Antônio Maria”, com crônicas e notas. Mas os cronistas da época, em geral, tinham muito talento. O Rubem Braga não precisava de assunto. Quanto menos assunto, melhor a crônica ficava. Acho que o
“O negócio de Maria era jornal e isso deu agilidade, uma falta de pose que lhe foi benéfica. Os textos têm uma vivacidade, um frescor, uma leveza que se mantêm até hoje.” Drummond se ressentia muito de assunto. O cronista Drummond não atendia àquela frase dele mesmo, “escrever é cortar palavras”. Ele deixava muitas palavras soltas, talvez porque o espaço era grande. Acho que era um cronista menor. Antônio Maria, sem dúvida, ficou mais. Ficou tanto quanto Rubem Braga e alguns outros.
18 Revista Literal
Aproveitando, quais são os melhores para você? Antônio Maria e Rubem Braga, sem dúvida. Paulo Mendes Campos sempre foi um dos meus queridões particulares, mas acho que é
um texto mais difícil de se pegar hoje. O “Ser brotinho” dele é um dos meus textos de cabeceira. Fernando Sabino tem uma vivacidade que se mantém. Carlinhos de Oliveira há muito tempo eu não leio. Mas o Maria, pelos depoimentos que eu tenho ouvido, as pessoas conseguem ler hoje e gostar. E tem uma coisa atual nos livros que é o tema “relacionamento”. Discute-se a relação nas crônicas. E tem um monte de livros nas livrarias tratando disso também. Ele passou a vida inteira em torno dos conflitos amorosos.
Mas tratando disso num contexto anos 1950/1960, chegando tarde em casa, saindo sempre sem a mulher… É claro. Na hora de escrever a crônica ele não dizia que era casado. No diário isso fica claro, mas nas crônicas não. Ele tinha o escape de dizer que era ficção, mas apareciam muitas namoradas nos textos. E nos textos ele fala muito da dificuldade das relações, da separação, do vazio.
A noite é terreno e matéria-prima das crônicas de Antônio Maria. Hoje é mais difícil encontrá-las nas crônicas. Por que ela perdeu esse lugar? Um dos fatores é que, antigamente, dava mais para conversar na noite. Agora tem uma barulheira noturna que impede esse texto oral. E hoje tudo é menos discutido, mais prático. Esse assunto das relações, inclusive, ficou dominado pelas mulheres. Martha Medeiros tem um texto muito legal sobre isso, Maria Lucia Dahl está escrevendo sobre isso, além de sites e mais sites, blogs… Essa série de TV, “Sex and the city”, é isso. Antônio Maria tinha um discurso mais grave e masculino sobre o tema. E ele também era personagem das crônicas, tinha um reconhecimento público. Todo mundo sabia que ele vivia entre belas mulheres. Teve a briga dele com o Sérgio Porto por causa da Rose Rondelli, a briga com o Baby Pignatari. Era um personagem da cidade que, quando escrevia o que escrevia e como escrevia, as pessoas paravam para ler porque ele tinha credibilidade.
A tristeza é freqüente nas crônicas do Maria. Você acha que ela é senhora do gênero como um todo? De todos os cronistas não. Fernando Sabino não. Paulo Mendes Campos sim, era depressivo. Rubem Braga não era exatamente um triste, era um contemplativo, um lírico. Maria era um triste, tinha na tristeza uma profissão de fé. Era, principalmente, um solitário. Você vê no diário que aparece um monte de mulheres, mas ele continua só, se sente só. Na última crônica dele, sobre uma velhinha do Westphalia, restaurante do Centro da cidade, a última palavra é solidão. (A frase completa é: “Um homem solitário, que sabe o que quer e não cede ‘isso’ de sua magnífica solidão”.) Não deve ser à toa. Só os superficiais desprezariam essa coincidência. Ele estava sempre reclamando da dificuldade do encontro, tinha esse sentimento de estar sempre sozinho.
A crônica policial que ele fazia é um estilo que se perdeu, não? Esse se perdeu totalmente. Porque o policial dele era uma coisa romântica, não tinha sangue. Era o punguista, o batedor de carteiras, o cara que escalava edifícios para roubar, a briga de casal que ia parar na delegacia… No máximo um suicídio por motivo amoroso. Mas gente matando gente, carnificina, isso não tinha. E ele vai parar com as crônicas policiais em 1961, coincidindo com a época da criação do Esquadrão da Morte, as mortes do Cara de Cavalo e do Mineirinho, que eram bandidos românticos, não eram nada se comparados com os de hoje. Ele sai fora quando começa a droga, traficantes aparecendo em Copacabana, policiais envolvidos. E o jornalismo cultural, que não era bem o que a gente chama hoje de jornalismo cultural? Ele se meteu numa grande polêmica cultural sobre a bossa nova, uma história até hoje mal contada. Eu tenho a minha tese. Nos anos 1950, ele andava pela noite de Copacabana com o mesmo pessoal que faria a bossa nova. Estava todo mundo nas boates procurando o tom, todo mundo mexendo com aquilo. Tom Jobim foi parceiro de Dolores, estava todo mun-
do no mesmo barco. O João Gilberto é que teve o estalo. Acho que no Maria, com “Valsa de uma cidade”, já começa a raiar o sol. “Manhã de carnaval” é “manhã/ tão bonita manhã”. Começa a sair da noite e chegar à manhã. Mas só que a bossa nova tinha a rigor um vilão que era o Maria, por causa, principalmente, do “Ninguém me ama”. No canto ia ser o dó-de-peito, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves. Mas no texto o que tinha que se negar era o Maria, o amor que não dava certo. A bossa nova eram garotos de Ipanema pegando todo mundo e se dando bem. E o Maria comprou essa briga, aceitou. Comprou a briga com o Ronaldo Bôscoli, tiveram um enfrentamento quase físico uma vez. Mas veja: o grande amigo dele era o Vinicius. E no final ele estava se aproximando do Tom Jobim. Certamente, se ele não tivesse aceitado essa fantasia de bandido, ele teria entrado no mesmo barco da bossa nova, porque ele era da turma, tinha o papo da turma. Não era bem nascido, não era carioca, não se vestia bem, mas era um cara moderno, ouvia os mesmos sons. Mas ficou estigmatizado como o gordão que perdia as paradas amorosas, o que não era verdade. O sofrimento era verdade, mas ele ganhava as mulheres. Nisso o diário é revelador, porque lança luzes sobre a intimidade de um craque e mostra que era tudo verdade. O sofrimento era natural, espontâneo, sincero. Mas não há no diário, também, um personagem criado por ele mesmo? Eu já ouvi gente falando que ele fazia um tipo, um personagem “Ninguém me ama”. No diário você vê que não, que havia uma sinceridade naquilo.
O sucesso do cronista e do personagem Antônio Maria pode ter ofuscado o compositor? Tem havido muito poucas regravações de músicas dele. Caetano e a Luciana Souza regravaram “Suas mãos”, mas acho que é só. Pode ser que, neste momento em que se redime o cronista, as novas gerações passem a prestar atenção no compositor. É uma obra musical pequena a dele, são 62 músicas, se não me engano. Já crônicas ele fez mais de 3 mil. 20 Revista Literal
Voltando ao jornalismo cultural, que é a sua praia: é uma área que ainda te desperta interesse? Eu acho que é uma área que precisa ser reavaliada, repensada. Precisava ter uma crítica interna nos jornais sobre a utilidade daquilo, a utilização daquele espaço. É uma atividade que podia ser exercida de forma mais polêmica, menos laudatória, menos acoplada a lançamentos de discos, estréias de peças, precisava haver uma revisão disso. Nas crônicas, acho que já houve essa revisão. Os cronistas estão cada vez mais presos à atualidade, para manter o leitor preso. Eu confesso que não lia mais o Rubem Braga no final, quando ele estava escrevendo n’O Estado de S. Paulo. Ficou lento. Acho que o jornal hoje tem uma temperatura que o cronista precisa acompanhar. A crônica é a alma do jornal, o sentimento, onde o jornal respira, ou melhor, suspira. Mas acho que precisa ser menos etéreo.
Houve um momento entre o etéreo e o atual que a crônica praticamente sumiu dos jornais. É, mas hoje os jornais já recuperaram isso. Todos os jornais têm cronistas, e quase todos os dias. Não é mais a crônica lírica, com todo mundo tentando incorporar o Rubem Braga. O pé no jornalismo está cada vez mais acentuado, e eu gosto disso. A crônica era muito o lugar onde o cara que escrevia bem mostrava como se fazia. Mas o texto jornalístico tem suas qualidades, e elas têm sido exaltadas pelos atuais cronistas. Os cronistas continuam falando, por exemplo, da mulher, mas ela é alguém presente no noticiário. A crônica está menos confessional e mais opinião sobre assuntos. Você fala menos do umbigo. Embora eu ache que a crônica carioca tem mais umbigo. Em São Paulo o cronista tende a se afastar mais do fato, ser mais objetivo. Você virou cronista para ficar ou é passageiro? Com sinceridade, nunca planejei isso. Meu interesse era fazer com que o texto jornalístico, a matéria, não tivesse tantos limites, quebrar
um pouco essa estrutura. A crônica é uma contingência, apareceu. O que eu gostaria de exercitar mais é a matéria com menos cara de matéria, com mais personalidade, mais autoral, usando elementos de crônica, para ela perder os limites, a objetividade. Em alguns casos, usar até a primeira pessoa.
Além do perfil do Antônio Maria, você também escreveu Feliz 1958, e freqüentemente suas colunas falam de comportamentos e tempos passados. Você é um nostálgico? Eu tento fugir dessa imagem. Mas lembrar-se de coisas boas é uma vantagem de se ter alguns anos. Se você é muito jovem, não tem como ser nostálgico, não tem como formular a nostalgia. Mas eu evito o “ah, como era bom!”. Essa nostalgia que eu tenho está ligada, por exemplo, à música, porque eu vivi uma época espetacular nesse campo, e também a comportamento, futebol. Se eu tivesse crescido nos anos 1970, 1980, eu não teria tanta nostalgia. Ainda não se sabe qual vai ser a cara que os anos 1980 vão ter no futuro. É minha grande curiosidade hoje. E, também, eu tenho um olho na audiência. Há uma nostalgia do Rio impressionante. Não é uma saudade vã, ela tem sentido. A cidade está tão desprestigiada, depreciada, que as pessoas têm saudade, querem que você ajude a lembrar de coisas legais. E meu tema é esse, a cidade. Eu sou repórter há 30 anos, e meu tema é o Rio. Eu nasci no subúrbio, na Vila da Penha. Morei em Brás de Pina, Vaz Lobo, depois morei na Zona Sul. Então, esse pé na Zona Norte ajuda a ter uma visão crítica, uma outra referência. Quando eu escrevo sobre a Zona Norte, a resposta costuma ser muito boa. Em qualquer época há assunto para crônicas? Há. Depende do olhar, do talento. O Verissimo é um mestre em fazer crônicas a partir do nada. Porque é o nada para os outros, que não percebem a quantidade de assuntos que existem numa bobagem. E ele tira daquela bobagem uma sabedoria incrível. Invejo isso. Já eu preciso de um assunto, um fato•
Revista Literal 21
a auto-ajuda de resultados Tocada por uma antiga família do ramo, editora Sextante se torna líder do segmento e transforma em fenômeno de vendas livro com um leão preguiçoso na capa. Por Luiz Fernando Vianna Publicado originalmente em dezembro de 2002
As listas semanais de livros mais vendidos impressionam: na categoria auto-ajuda, pelo menos seis dos dez títulos costumam ser da Sextante. Em algumas semanas a marca chega a nove. A editora se tornou a líder absoluta de vendas no gênero, ainda que editoras tradicionais na área, como a Pensamento-Cultrix, continuem fortes. Para se ter uma idéia do sucesso, os irmãos Marcos e Tomás da Veiga Pereira já conseguiram em 2001 atingir o faturamento que sonhavam apenas para 2005. Nessa história até o momento vitoriosa, um dado fundamental é que ela não pode ser resumida aos cinco anos de vida da editora, mas a décadas de ligação de uma família com os livros. Marcos e Tomás são netos de ninguém menos que José Olympio Pereira, provavelmente o mais importante de todos os editores brasileiros, e que publicou, nos tempos áureos da José Olympio Editora, obras de Carlos Drummond de Andrade, Manoel Bandeira e muitos outros grandes escritores – pertencente hoje à Record, o selo ainda tem nomes como Ferreira Gullar e José Lins do Rêgo em seu catálogo. O pai de22 Revista Literal
les, Geraldo Jordão Pereira, herdou a paixão de José Olympio pelos livros e foi proprietário da Salamandra, vendida em 1997 para o poderoso grupo espanhol Santillana. Geraldo ainda se tornou notícia nos últimos anos por causa da sua longa e vitoriosa luta para conseguir um transplante de fígado e, mais do que isso, alertar para os erros nos critérios que determinam no Brasil quem tem prioridade para receber um órgão doado. Hoje Geraldo está bem e cuida da Sextante com os filhos e com a coordenadora editorial, a jornalista Virginie Leite. Empresta toda a sua experiência no ramo, tendo como função principal ler livros que podem vir a ser editados. Livros de auto-ajuda? Tomás diz que, hoje, pode até gritar que sim, sem medo da carga pejorativa que ainda há sobre o gênero. “Antes as pessoas falavam ‘auto-ajuda’ baixinho, tentava-se dourar a pílula. Mas, hoje, esse ranço já praticamente desapareceu. Publicamos coisas de qualidade, de que gostamos, e nosso critério para publicar é: se é algo que pode ser interessante para todo mundo, então nos interessa”, explica Tomás.
Alguns dos livros que estão fazendo o sucesso da Sextante têm títulos que denunciam facilmente seus objetivos: Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, de Allan e Barbara Pease; Você é insubstituível, de Augusto Jorge Cury; 100 segredos das pessoas de sucesso e 100 segredos das pessoas felizes, ambos de David Niven. Mas o grande tiro da editora aconteceu na Feira de Frankfurt de 2001. Marcos e Tomás se encantaram com um livro de fotos de animais e legendas engenhosas assinado pelo australiano Bradley Trevor Greive. Acertaram num dia de pagar US$ 2.500 pelos direitos. No dia seguinte, ouviram que não era bem assim, que teriam que pagar o dobro. Numa ousadia próxima do destempero, aceitaram desembolsar os US$ 5 mil e saíram da Alemanha com o livrinho que lhes poria na invejável situação em que estão agora: graças a um bom tratamento gráfico e a um leão preguiçoso substituindo na capa o sapo da edição australiana, Um dia daqueles já vendeu 600 mil exemplares e é o carro-chefe da Sextante, tendo respondido por um terço do faturamento da editora em 2001. “É um livro-presente, e com ele entramos na disputa por um mercado onde há também CDs, perfumes… Mas, para que o sucesso acontecesse, foi fundamental termos conseguido lançar o livro a R$ 19,90, um preço acessível”, diz Marcos, que agora está experimentando vender Um dia daqueles também como calendário e agenda. Comprados na cola do primeiro, os outros livros de Bradley Trevor Greive – que esteve no Brasil em 2002 – também têm números satisfatórios: Querida mamãe já vendeu 300 mil exemplares; O sentido da vida, 100 mil; Em busca do príncipe encantado, o mais recente, 40 mil. O Brasil é o segundo país onde os livros de Greive mais vendem, só perdendo para os Estados Unidos (em números absolutos, já que proporcionalmente o resultado aqui é melhor). Embora seja comum chamar tudo de “auto-ajuda”, na verdade o catálogo da Sextante se divide em alguns subitens, como espiritualidade
(Dalai Lama, por exemplo), ensaio (Leonardo Boff), mediunidade (James Van Praagh) e vidas passadas (Brian Weiss). Weiss, um best-seller internacional, teve livros publicados ainda na Salamandra, embora a editora tivesse um outro perfil, fazendo muitos livros de arte. Este perfil está contemplado na Sextante Artes, um braço menor da editora. Mas para quem acha que a linha que predomina na Sextante nada tem a ver com a do patriarca José Olympio, Marcos lembra que o primeiro livro lançado pelo avô foi Conhece-te pela psicanálise, algo já com um pezinho na auto-ajuda que faria o sucesso dos netos tantos anos mais tarde• Passados dez anos, a Sextante continua dominando a lista dos mais vendidos. Na primeira semana de novembro de 2012, nada menos que 15 títulos da editora estavam entre os mais vendidos, como os romances água com açúcar de Nicholas Sparks, O monge e o executivo, de James Hunter, espécie de auto-ajuda para o mundo empresarial, que vendeu quase 3 milhões de exemplares, além de livros religiosos, a autobiografia de Eike Batista e o livro do técnico campeão de vôlei Bernardinho. Em entrevista publicada no PublishNews, em outubro de 2011, o diretor Tomás Pereira afirma ter vendido 53 milhões de livros, entre os 400 títulos do catálogo até aquele momento. O foco continua sendo na auto-ajuda, espiritualidade e ficção comercial. Mercado que continua superaquecido, com a criação de novos selos e editoras dedicadas ao gênero. (BD)
Revista Literal 23
24 Revista Literal
Dalton Trevisan (1925), por Loredano
o cirurgião chega à medula Dalton Trevisan – vencedor em 2012 dos Prêmios Camões, Machado de Assis e Portugal Telecom – é, queiram ou não queiram os chatos, um mito literário, sobrepujado apenas por seu talento. Por Aldir Blanc Publicado originalmente em fevereiro de 2003
A decisão, sempre polêmica em terra de cometas sequiosos pelas pretensas benesses da mídia, de não conceder entrevistas só fez aumentar a aura que Dalton abomina (pelo menos, em tese…). É curioso que alguns parlapatões, admiradores do “silêncio” de Cage e outras vanguardices, não permitam que Dalton Trevisan cale a boca. No Brasil do marketiiinnnggg, a única profissão do mundo que ricocheteia, Dalton Trevisan fez uma escolha radical. Jamais chegará a ministro. Só vamos sentir falta dele – e muita – mais tarde. Foi assim com Noel Rosa. Faz tempo, o arguto (hiii….) Ivan Lessa observou que Dalton continuava aparando, até o osso. Hoje, a concisão cirúrgica já está na medula, na lâmina da anatomia patológica. É natural que Dalton Trevisan tenha tantos detratores. Ninguém gosta de ser dissecado em vida, sem anestesia. Não vou me estender em babilaques e lantejoulas. Seria desmerecer nosso carrasco e vampiro. Aqui vão alguns cortes, magistralmente lancetados. Olhem para a própria pele e sintam o mau-cheiro. “A famosa catarata, as Sete Quedas, uma das maravilhas do mundo? O que eu vejo é o
rosto, esse pobre rosto em primeiro plano.” “Ele espera a coroa no ponto de ônibus. Bebem duas cervejas no bar, a caminho da pensão. O quarto 23 dos fundos. Se despem sem pressa, por último ele tira o escapulário, fiel protetor desde os cinco anos.” “Do meu coração fiz uma pedra de gelo. E do meu olho, vidro escuro. Assim não vejo, não sinto, não choro.” “Curitiba – essa grande favela do primeiro mundo.” “Assim como o cãozinho quer pegar no chão a sombra do vôo rasante do pássaro, você persegue no tempo a lembrança em fuga dos teus mortos queridos.” Como diria aquel’outro anatomista, o Nelson Rodrigues: – E só. De um jeito fanho, com o nariz cheio de catarro. Toda vez que o Vampiro lança um livro, aparecem os Van Helsings da crítica mudernosa, com seus exorcismos esotéricos, crucifixos de seitas literárias, alhos e bugalhos de enganadores. Chegam a babar que os caninos do Vampiro estão meio gastos. Otários, tirem o pescoço da reta!• Aldir Blanc é escritor e compositor.
Revista Literal 25
a odisséia de verger Que força poderia ter conduzido esse ser humano a renunciar às suas ligações familiares e tornar-se um efetivo embaixador entre a Bahia de Todos os Santos e o Golfo de Benin? Por Nei Lopes Publicado originalmente em março de 2003
Em um texto memorável, que não nos cansamos de citar, o poeta haitiano Jacques-Stephen Alexis (1922-61) lembrava: “A África não deixa em paz o negro, de qualquer país que seja, qualquer que seja o lugar de onde venha e para onde vá”. De nossa parte, tomamos a liberdade de estender essa verdade cristalina a tantos quantos indivíduos, negros ou não, tenham se envolvido com os conteúdos ancestrais legados pelo saber e pelo espírito africano à Humanidade – porque esse “vício da África”, como o chamou o mestre Alberto da Costa e Silva, é mesmo uma obsessão. Que, aliás, talvez se explique através do vitalismo que perpassa o pensamento tradicional negro-africano. Para o vitalismo negro-africano, todo indivíduo humano constitui um elo vivo, ativo e passivo na cadeia das forças vitais, ligado, acima, aos elos de sua linhagem ascendente e sustentando abaixo de si a linhagem de sua descendência. E o primeiro bem que o indivíduo recebe na vida é seu nome. Porque o nome individualiza o ser humano, situando-o no grupo, mostrando sua origem, sua atividade e sua realidade. A partir desses princípios, que são alguns dos que norteiam e estruturam, entre outras vertentes religiosas, a tradição de culto aos orixás iorubanos nas Américas, nos pergunta26 Revista Literal
mos: o que poderia ter levado um jovem bon-vivant, filho da burguesia francesa, a abandonar conforto e segurança, para literalmente “cair no mundo” e integrar-se a comunidades e culturas tão estranhas às suas raízes? Que força poderia ter conduzido esse ser humano a renunciar às suas ligações familiares, adquirir seguidamente vários outros nomes (como acréscimo de força vital), tornar-se um efetivo embaixador entre a Bahia de Todos os Santos e o Golfo de Benin e, através dos conhecimentos adquiridos nesses dois pólos culturais mas sem instrução universitária formal, doutorar-se por uma das mais prestigiosas universidades européias? A resposta parece estar na própria tradição dos orixás, tradição essa que tem sua espinha dorsal no culto de Ifá. Na teogonia iorubana, Ifá ou Orumilá é o orixá do destino e da sabedoria – o nome Ifá designando, mais especificamente, o oráculo através do qual fala Orumilá; e, ainda, o conjunto de escrituras em que se baseia o complexo sistema de adivinhação presidido por essa Divindade. Nesse sistema, cada resposta a uma consulta ou cada uma das indicações dadas pelo oráculo corresponde a um odu, nome que, por extensão, designa, também, cada um dos textos ca-
Fundação Pierre Verger/Divulgação
nônicos expressos através de parábolas que servirão de orientação ao consulente. Segundo a tradição iorubana, existem milhares de odus ou signos de Ifá, os quais, a partir da combinação de 16 signos simples ou principais, regem o destino de cada uma das pessoas no universo. Os nomes dos 16 odus principais (Ejiobé, Oiecum, Iuori, Odi, Irosum, Ouãrim, Obará, Ocana, Ogundá, Ossá, Icá, Otrupon, Oturá, Iroto, Oxê e Ofum) identificam os primeiros discípulos, afilhados ou sacerdotes de Ifá, iniciados por Orumilá. E as parábolas do oráculo retratam experiências vividas por cada um desses sacerdotes. Uma dessas parábolas ensina que Ocana foi, até a juventude, agricultor. Mas vivia em um território onde era impossível prosperar, pois os animais predadores exterminavam as colheitas de sua família. Certa vez, meditando sobre suas necessidades, e vendo Eleguá, o dono dos caminhos, aproximar-se, Ocana pediu-lhe orientação, o que conseguiu, exterminando os animais predadores e obtendo ótimos resultados em seu trabalho. Entregando os bons frutos da colheita à família, Ocana, como já planejava havia muito, deixou a casa paterna e ganhou o mundo. Chegando à cidade de Ipetu, centro das tradições de Ifá, apresentou-se a Orumilá e ini-
ciou-se no culto, tornando-se babalaô. E, como durante sua iniciação três pessoas morreram subitamente em Ipetu, Orumilá lhe entregou o poder sobre as enfermidades (curadas através das folhas, ewé), de posse do qual Ocana partiu em peregrinação, chegando, depois de algum tempo, a uma região onde, por seus poderes, conquistou muito prestígio, sendo por fim aclamado como obá, chefe espiritual e temporal. Outra das parábolas de Ifá conta que Otura foi um dos discípulos mais cultos e educados que teve Orumilá, dedicando-se, durante sua iniciação, principalmente a desenvolver estudos sobre a inteligência do ser humano. Iniciado, partiu em peregrinação de vários anos, conhecendo as formas de vida de diversas regiões e, embora não pudesse habituar-se a elas, muito ajudou os nativos com sua sabedoria. Por fim, Otura estabeleceu-se em Ifé, a sociedade iorubana mais avançada daqueles tempos. E como levava sorte e fortuna a cada região que chegava (e cada vez tinha chegado a lugares uns mais pobres que os outros), ao final de sua vida foi um dos homens mais ricos entre todos os iorubanos. Reinou sobre os inimigos e foi também o criador do apô ibirá, a bolsa de viagem do babalaô, instrumento imprescindível a todo sacerdote peregrino como ele. Revista Literal 27
Fotos de Pierre Verger, dĂŠcada de 1940.
28 Revista Literal
Revista Literal 29
Capas de alguns dos livros de Pierre Verger publicados no Brasil
Pois esses dois textos canônicos, aqui devidamente resumidos, podem nos levar a entender a espantosa trajetória de vida contada no livro Verger: um retrato em branco e preto (Corrupio, 2002), de Cida Nóbrega e Regina Echeverria, com prefácio do múltiplo intelectual e artista Emanoel Araújo. Senão, vejamos. Pierre Édouard Léopold Verger, nascido em Paris de novembro de 1902 em uma família cuja frondosa árvore genealógica remonta ao ancestral Lucas Wolff – falecido provavelmente em Rotterdam, em 1831 – antes dos anos 1920, “can30 Revista Literal
sado de só conhecer gente burguesa, endinheirada, que não tinha muito interesse”, consoante suas próprias palavras, fez amizade com pessoas “indesejáveis” segundo os critérios de sua família e com elas “zoava” Paris, dirigindo um carro esporte de marca famosa e provocando a polícia. Na década seguinte, o jovem Verger uniu-se a um novo grupo de amigos, todos artistas e que viviam de maneira pouco convencional, bastante livres para os padrões da época. Mas não querendo chocar sua mãe, por quem nutria grande devotamento, não chegou a adotar, pelo menos publicamente, comportamento muito diferente daquele prescrito pelas normas familiares. Entretanto, o falecimento da genitora, em 1932, levou Pierre Verger a um rompimento com seu passado e seu meio. Mas a culpa ainda o dominava; e o espírito atormentado só se acalmava com a exaustão física, a fome, a sede, os pés destruídos pelas longas caminhadas. Em 1932 Verger foi viver no Taiti, com o amigo Eugène Huni. Sobre essa ligação, “Verger jamais se manifestou publicamente, mantendo uma postura discreta e reservada por toda a vida”, escrevem as autoras da biografia, para logo se perguntarem: “Mas por que, depois de todo aquele tempo no Taiti, Verger resolveu partir repentinamente? Algo havia se passado entre os dois? Talvez poucas pessoas tenham tocado tanto Verger quanto Eugène Huni”. E as conjeturas se encerram com a confissão feita pelo biografado, 40 anos depois do episódio: “Esse homem mudou minha vida”. Em 1947, depois de 15 anos de viagens, que incluem percursos a pé, de bicicleta, de caminhão e de navio, num trajeto que compreendeu lugares tão distantes e diferentes como, entre muitos outros, Rússia e Polinésia francesa, Caribe e Argélia, Nova York e Xangai, o lago Titicaca e Mato Grosso, o fotógrafo Pierre Verger (que só fotografava em cores quando solicitado) assiste pela primeira vez, em Recife, a cerimônias em honra de orixás iorubanos. No ano seguinte, na Bahia, recebe o cargo de ogã do candomblé do Engenho Velho, com o título de Essá Elemexô e faz seu primeiro bori (cerimônia preliminar da iniciação no culto aos orixás), recebendo o colar de Xangô, seu orixá de cabe-
ça, confirmado no ano seguinte em Ifanhim, na Nigéria, onde recebe o título de Xangowumi. Por essa época, segundo outro livro, Verger – Bastide; dimensões de uma amizade (Bertrand Brasil, 2002, Angela Lühning, org.), Pierre revela seu interesse em aprofundar-se na questão dos processos divinatórios, que conhece apenas de livros, como os de Bernard Maupoil, queixando-se de que “encontra apenas um muro de silêncio”. Em 1949, em Uidá, no atual Benin, descobre documentação sobre o tráfico clandestino de escravos para o Brasil, depois que essa atividade foi declarada ilegal. Dois anos mais tarde, o babalorixá pernambucano referido no livro apenas como “Pai Cosme” empresta-lhe seus cadernos de anotações e o autoriza a fotografar os rituais de iniciação – dando velocidade inicial ao processo de transformação em etnógrafo do repórter fotográfico e bolsista do Instituto Francês para a África Negra (Ifan), duramente cobrado por Théodore Monod, diretor do Instituto. Em 1953, em Queto, Verger iniciou-se, segundo consta, no culto de Ifá, recebendo o nome “Fatumbi”, sendo essa iniciação, entretanto, provavelmente incompleta, a confirmar-se sua opção sexual, insinuada no livro – a qual representaria um dos tabus da tradição de Ifá, consoante interdito contido em um dos textos canônicos do odu Ouãrim Oxê. A partir daí, passa a trazer de suas viagens à África Ocidental encomendas e presentes para dignitários do culto aos orixás na Bahia; e a levar outros tantos da Bahia para a África, mostrando-se uma espécie de embaixador informal entre Salvador e o Golfo de Benin. Tanto assim que, entre 1949 e 1960, Pierre Verger atravessou o Atlântico 13 vezes, chegando a fazer duas viagens em um mesmo ano. E dessas verdadeiras peregrinações extraiu material para escrever obras densas e fundamentais, como Orixás: os deuses iorubás na África e no Novo Mundo; Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII ao XIX; Ewé: o uso das plantas na sociedade iorubá etc. A biografia de Cida Nóbrega e Regina Echeverria é resultado de pesquisa muito bem projetada, fundamentada e elaborada. Mas
acreditamos que ela não seria possível sem a existência da Fundação Pierre Verger. Criada em 1988 pelo próprio Verger, ela é uma instituição incumbida de dar continuidade ao trabalho do fotógrafo e etnógrafo, preservando e tornando pública sua espantosa e valiosíssima obra fotográfica e documental. Graças à Fundação e a uma equipe de pesquisadores dedicados, o legado de Verger tem tido grande visibilidade, como, por exemplo, na belíssima exposição vista em 2002 na Casa França-Brasil, no Rio. Assim, o livro Verger: um retrato em branco e preto, extremamente bem concebido e realizado, é um reflexo dessa visibilização. Dividido em 21 capítulos, nos quais se enfocam o histórico familiar; o “desbunde”; a saída de Paris; a vida de repórter; a sedução da África; o ofício de fotógrafo; os registros de guerra e das viagens; os trópicos; a Bahia; as pesquisas do candomblé; as pesquisas sobre o refluxo; o doutorado na Sorbonne; o papel da Editora Corrupio e o da Fundação Pierre Verger; os últimos anos; e o legado artístico e intelectual, além da apresentação de uma detalhada cronologia de sua vida; um minucioso levantamento de suas obras publicadas, um caderno de fotos a cores etc., o livro é efetivamente primoroso, em conteúdo e forma. Então, queira Orumilá que ele abra caminho para a publicação de outras obras elegantes e assim bem produzidas! Principalmente sobre outros grandes dignitários da tradição africana no Brasil, como, por exemplo (e falamos apenas dos homens), Martiniano do Bonfim (Ajimudá), Pai Adão (Filipe Sabino da Costa – Obá Uatanã), Rodolfo Martins de Andrade (Bamboxê Obitikô), Joaquim Vieira da Silva (Obasanya) etc., os quais embora em planos diferentes, com suas histórias de vida e idiossincrasias, foram também vítimas daquela sublime obsessão de que nos falou o poeta haitiano Jacques-Stephen Alexis. E que, assim, bem merecem as mesmas homenagens e reverência agora justamente prestadas à memória de Pierre Fatumbi Verger, nas celebrações de seu centenário• Nei Lopes é compositor popular, escritor e adepto da tradição de Ifá.
Revista Literal 31
waly Machado de Assis (1839-1908)
32 Revista Literal
-
waly A poesia no poder salomão O poeta Waly Salomão tomou posse da Secretaria Nacional do Livro e da Leitura cantando e sugerindo uma gestão promissora pautada pelo sonho, pela catimba e pela bandeira da Imaginação no Poder. Aqui ele fala de seus planos, sua relação com os livros e sua experiência como administrador, três meses antes de falecer vitimado por um câncer fulminante. Por Heloisa Buarque de Hollanda Publicado originalmente em fevereiro de 2003
Que você é poeta polivalente, radical e premiado eu já sei. O que me interessa agora descobrir é o Waly político, executivo, que acaba de assumir a Secretaria Nacional do Livro e da Leitura. Como esse personagem é muito novo para mim, vou com calma e pergunto primeiro: qual é a posição efetiva do livro e da leitura na sua vida? Waly Salomão. Desde que me entendo por gente, o livro tem uma posição central, como se fosse um ícone dentro da casa. Ainda bem menino, me lembro de minha mãe discutindo com meus irmãos e irmãs mais velhos os dois volumes, daquela velha edição da editora Globo do Rio Grande do Sul, de Guerra e paz de Tolstói. Eles discutiam a trama dos livros e seus personagens como se estivessem discutindo uma novela mexicana. Anna Karenina, por exemplo, era centro de conversa como se ela fosse uma personagem da Gloria Perez. Minha tia Etelvina, mulher de Tio Bento, lia sem parar. E eu, que já freqüentava a Biblioteca
Pública de Jequié, onde morávamos, tirei para ela a edição do D. Quixote numa tradução bem rococó, feita por Antonio Feliciano de Castilho. E eu adorava aquele português bem rebuscado, com palavras muito mais difíceis do que no original espanhol e decorava trechos enormes do texto. Quando saiu Gabriela Cravo e Canela, lá em casa compramos logo três volumes porque todo mundo queria ler e não dava tempo. Minha irmã tinha Os sertões em capa dura e me obrigou a ler. Eu lia tudo o que me caía nas mãos e me fundia com aquelas páginas. E ao mesmo tempo aquelas páginas faziam com que eu transcendesse a coisa tacanha, acanhada, da vida de cidade do interior.
Você foi rato de biblioteca? Claro! Quem tomava conta da biblioteca de Jequié era uma senhora chamada Nosa, que tinha um peitoril, uma platibanda assim bem felliniana. Ela não sabia nada de livros, tinha sido colocada ali por algum político. Quando entrava Revista Literal 33
alguém procurando algum livro era eu quem sabia localizar onde estava o livro. Livro para mim nunca representou uma opressão, foi sempre uma oportunidade de libertação, de levantar vôo.
Pelo que eu sei você se formou em direito no calor dos anos 1960. Nessa época de estudante, você era de esquerda? Você já conhecia os baianos que iam arrasar depois no Rio e em São Paulo? Eu convivia com eles todos. O Gil eu conheci ainda no Colégio Central, no clássico. Uma colega de classe, Vânia Bastos, fez uma reunião na casa dela e apareceu um garoto gorducho, tocando violão e era Gilberto Gil. Isso era 1961, 1962. Éramos uma esquerda marxista-existencialista porque líamos Marx, Camus, Sartre e Merleau-Ponty, quer dizer, essa encruzilhada de paradoxos. Assisti aos primeiros shows deles, da Bethânia, do Tom Zé. Era uma época de grande fermentação na Bahia. Havia a Escola de Música, que era poderosa, com Koellreutter falando de dodecafonismo, o Walter Smetak falando de microtons. Junto com a faculdade de direito fui aluno da Escola de Teatro. Era também um espaço poderoso que, além de grandes nomes como Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves, era bem equipada, tinha até ciclorama. Lá eram montadas peças de Albee, Brecht, Morte e vida severina, teatro nô. Era a época de Yoná Magalhães, Helena Ignez, Sergio Cardoso, Gianni Ratto como coreógrafo.
E a militância mais diretamente política? Participei do CPC baiano, com Geraldo Sarno, Capinan, Tom Zé. A gente levava as peças ou na Concha Acústica do teatro Castro Alves de Salvador ou nas favelas nascentes da cidade, como no Nordeste de Amaralina. Eu dava aula sobre Feuerbach, de Marx, fazia palestras na faculdade de Medicina. Organizei também um centro de estudos chamado Antônio Gramsci (Ceac), bem antes de Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder traduzirem Gramsci na capital. E depois de 1964? Em 1964, o corte foi o mais abrupto possível. Mas foi também nessa época que li Tremor e 34 Revista Literal
temor, de Kierkegaard, aquele genial protestante existencialista, que contava de repetidos ângulos a história de Abraão, incumbido por Deus de matar Isaac. Um livro de perspectiva cinética. Fiquei com isso na cabeça. Em volta, as pessoas andavam assombradas, amedrontadas, perdidas. Comecei a olhar outros caminhos. Na vida, se a via fica estreita, você tem sempre que descobrir como seguir. Isso para mim foi uma dolorosa, longa, sofrida vereda que eu busquei: a de ultrapassar a província.
E quando você conseguiu essa vereda? Decidi vir para o Rio de Janeiro. Era a época em que Caetano já estava explodindo com “Alegria alegria” e a gente ficava conversando, lendo Clarice Lispector, discutindo Guimarães Rosa, Cinema Novo. Depois Dedé e Caetano me convidaram para ir para São Paulo, e acabei indo morar com eles na Rua São Luiz. Era o auge do Tropicalismo, e vivi lá até eles serem presos. Depois ficava entre Rio e São Paulo. Eu escrevia coisas que mostrava a todo mundo mas que ninguém lia. Teve até um texto que escrevi no Carandiru chamado Apontamentos do Pavilhão 2 que parece um hip-hop avant la lettre. Ali representou um momento de deflagração da aventura de escrever. Foi ali que eu me concentrei e me liberei como escritor. Mostrei esse texto para diferentes pessoas mas ninguém dava retorno. Aí é que entra a figura do Hélio Oiticica que levou o texto a sério e que, por conta própria, sentou na prancheta e fez uma diagramação especialíssima para o texto que mais tarde foi apreendida pela polícia na casa de Rogério Duarte. Bem, 40 anos depois de uma história bastante enviesada, com direito a prisões, repressão, milagres brasileiros e à onda neoliberal, essa mesma geração que você estava descrevendo toma o poder com a mesma morbeza romântica, a imaginação no poder, cantando o sonho, como se tivesse sido apenas casualmente interrompida por alguns minutos. Como você explica essa mágica? No dia da posse, eu senti que era a primeira vez na República Federativa do Brasil que acontecia
um tipo de posse tão alegre e diversificada. Ali estavam diferentes ângulos, picadas, perspectivas, possibilidades fecundas da cultura brasileira. Vi com emoção, entusiasmo e tesão, e é assim que estou assumindo esse cargo. Nunca acreditei em “the dream is over”. Sinto-me muito mais próximo da frase de Shakespeare: “Somos feitos do mesmo material de que são feitos os sonhos”. O sonho não pode acabar. Você tem que ter sempre tanques de reserva, possibilidades inusitadas, inexploradas, de se reabastecer de sonho.
O sonho é uma metodologia desejável para o bom administrador? Eu sou de Virgem. Então, muitas vezes a cabeça está nas nuvens e os pés no chão. Quando fui nomeado diretor da Fundação Gregório de Matos de Salvador, trabalhei pesado. Na minha gestão eu me pautei antes de tudo por um modo de
enfrentando os pelegos do carnaval que me chamavam de estrangeiro, não baiano. Mas fui provando não só que era de Jequié mas que tinha muito conhecimento da cultura baiana, das populações mais pobres, da população negro-mestiça, intimidade nas festas e nas agruras dos pescadores, das feiras, com o candomblé.
E como entra o livro nessa luta pela diversidade cultural? Pelo respeito a todos os falares, não podemos ter um falar único regido por leis gramaticais rígidas. Por exemplo, na Bahia, muitas vezes eu parava e ficava ouvindo um camelô e a mulher falarem, o modo como eles falavam, na ladeira de São Bento, eu ficava horas absorvendo aquela verve, aquele modo de vender. Aquele camelô tinha um lado brasileiro, sem nada de folclorismo, que a gente tem que conservar
O sonho não pode acabar. Você tem que ter sempre tanques de reserva, possibilidades inusitadas, inexploradas, de se reabastecer de sonho
pensar desconfiado da relação do artista com o poder. E em algum tempo minhas habilidades administrativas e de flexibilidade política foram reconhecidas e fui designado coordenador do carnaval da Bahia. Minha luta foi toda em cima de defender o carnaval não como um fato turístico e pitoresco, mas fundamentalmente como um fato cultural. Nasci e briguei muito na Bahia naquele momento para dar valor aos blocos afros que estavam nascendo, como o afro de Itapuã, Male Debale, esse nome ajudei a dar e significava a revolução islâmica do século XIX em Salvador. Ajudei o Olodum, ajudei o Ilê Ayê. Sabia que estava ajudando a representação da maior cidade negra fora da Africa que é Salvador. Eu digo que tenho experiência administrativa porque o carnaval demandava 7 mil pessoas trabalhando diretamente sob meu comando e eu chegava mais cedo do que todo mundo,
porque senão fica um crescimento uniforme sem diferenciação. Eu detesto é salazarismo, galinha verde de Plínio Salgado, fascismo, generalíssimo Franco. É evidente que você pode ver percepções inusitadas em pessoas carentes da sabença oficial. Não perceber isso é agir como no leito de Procusto, onde ou você corta a cabeça ou corta o pé, porque ele é curto, não cabe o corpo todo. Temos que fazer o corpo inteiro da cultura esplender. Vem daí a invenção de seu programa Fome de Livro? É claro. Estamos vivendo um momento muito fecundo com essa capacidade do Lula de liderança, de aglutinar as vontades de um povo na sua diversidade. Aí, junto com o Fome Zero, um programa justíssimo do Lula, fui percebendo que no Brasil, ao lado da música popular, do Revista Literal 35
Divulgação
pagode, do futebol que são responsáveis pela ascensão social de setores sem saída, o livro também pode ser e tem sido essa alavanca de modificação da posição subalterna das pessoas na sociedade. A fome de livro é um projeto complementar, que considera o livro e a leitura uma ferramenta social, e isso é o meu objetivo básico na Secretaria.
Você já teve uma experiência forte e recente com esse trabalho em comunidades no Rio, não teve? Tive. Sou diretor de Comunicação da ONG Vigário Geral, AfroReggae Cultural há muitos anos. O Junior e o Zé Renato, há quase dez anos, me viram no Jô Soares uma vez e me procuraram. Vi aquilo como uma coisa muito forte, me integrei logo, sem nenhuma hesitação ou dúvida. Comecei a colaborar com o Jornal AfroReggae e abri para eles minhas cadernetas de endereço, todos os nomes, mesmos as estrelas pops e vedetes, o que eu não faria com uma promo-
36 Revista Literal
ter…. No lançamento de meu livro Algaravias (1996), no Shopping da Gávea, combinei com as bandas e com a ala de capoeira deles para invadirem aquele shopping da Zona Sul para provocar uma reversão simbólica. Transformei meus amigos, gente de show e de novela como Glória Pires, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Antonio Cicero, Fernanda Torres, Renata Sorrah, Zé Wilker, que aqueles meninos e suas famílias costumavam admirar de longe, em espectadores assistindo-os jogarem capoeira, tocarem etc. Até hoje o síndico do shopping proíbe qualquer lançamento de livro de Waly Salomão ali. Gosto desses cruzamentos, dessas misturas, intercâmbios. Quem gosta de água parada é mosquito da dengue. Como nosso defensor oficial da leitura, além de gostar de analfabetos você não tem medo da mídia? De jeito nenhum. Foi o programa do Jô que me aproximou do AfroReggae. Por isso é que poeta não querer ir para arena pública está errado. Poeta criticar a coisa midiática é uma coisa da Europa civilizada pós-Hitler, mas que aqui não tem razão de ser. O poeta, o escritor tem que ter uma arena pública, tem que ter um modo de falar não só para o Departamento de Letras, não pode fazer uma poesia prêt-à-porter que agrade ao ouvido do professor. Ele tem obrigação de tentar alargar o seu escopo.
Como essas experiências junto com sua militância passada se unem com essa paixão pela revolução do livro e da leitura hoje na sua Secretaria? Porque eu vi, por exemplo, em lugares como nos grupos culturais do AfroReggae de Vigário Geral, garotos anêmicos ficando mais alimentados, mais estimulados, aprendendo coisas, ascendendo socialmente. É por isso que aprendi a ser otimista no meio de um país encalacrado como o Brasil. É por isso que não tive medo, preferi a esperança. Você nem hesitou quando o Gil te chamou? Ah, nem hesitei. Acho que eu sempre já quero essas coisas previamente, não vacilo. Fui chamado na realidade por João Santana, ligado ao Palocci, que tinha visto meu desempenho administrativo em Salvador. Essas coisas ou você não topa ou tem que dar total dedicação. E depois, essa é sempre uma experiência enriquecedora, vou ter contatos, discussões, divergências, convergências, e a minha poesia sai ganhando.
Como foi seu primeiro dia de trabalho? Você chegou com todo esse gás? Nem cheguei com tanto gás assim… Fui chegando com bastante cautela, precaução, visitando cada setor, tentando apagar até um lado público meu espalhafatoso, inclusive no próprio tratamento com meu parceiro e amigo eu obedeço fielmente à liturgia do poder, só o chamo de sua excelência ou de ministro, ou de companheiro como é a linguagem de agora. Ando de paletó, gravata, tudo. Como eu sou barroco, sei que a vida é um teatro. Não adianta ir com a roupa errada, não fazer os usos de tratamento. Chego sempre com muita cautela, ouvindo tudo e todos… Entrei querendo entender em minúcia aquele espaço, querendo distinguir quem é o servidor qualificado, querendo formar equipe. Entrei procurando uma conjunção interministerial e com os outros poderes, senão sei que não chego muito longe não. E tem muita briga por lá? Eu acho muita graça em ver tanta briga pelo Ministério da Cultura, um ministério paupér-
rimo. Por que será que mesmo assim pessoas brigam por cargos, tiram os tapetes, mandam flechas venenosas para todo lado? Para a chefia da Biblioteca Nacional foi uma guerra de foice como eu nunca tinha visto. De repente, um mequinho amigo meu me soprou o nome do Pedro Corrêa do Lago e essa indicação caiu pra mim como uma perfeição. A gente precisa ouvir muito. É assim que pretendo agir, de uma forma pausada e com o travesseiro me servindo de sibila. Se eu errar, sei que é apenas como parte do percurso para acertar. No caso da Biblioteca Nacional quero garantir que aquele acervo, além de ser preservado e exposto, tenha a mesma acessibilidade de padrão internacional que você encontra, por exemplo, na Biblioteca do Congresso em Washington. Pensar a Biblioteca Nacional não como espaço imperial mas como um espaço que possa servir à população, um espaço de utilidade pública.
A idéia da leitura é fundamental. Mas fazer livro no Brasil é muito caro. É uma aventura economicamente quase inviável. A Secretaria vai ter algum projeto nesse sentido? Eu também já fui um pequeno editor, junto com minha mulher Marta. Tivemos a editora Pedra Que Ronca. Lançamos o primeiro livro do Caetano, Alegria alegria, e outro livro chamado Baticum, de Sonia Lins, a irmã da Ligia Clark. Aí tivemos que fechar… Hoje estou vendo com muito gosto a multiplicação de boas pequenas e médias editoras e a explosão desse panorama. Vai chegar o momento em que esse quadro de dificuldades possivelmente vai ser superado. E vou trabalhar para isso. O que seria o grande gol de sua gestão na Secretaria? Penso agir com muita dedicação, sonho e catimba, que é uma palavra que vem da África. Sonho com um povo mais bem alimentado, letrado, gostando de livro mas sem estar oprimido pela leitura. Sonho com o Brasil, nesta gestão Lula, assumindo sua face original e diversificada perante o mundo. O livro pode ajudar nisso. Minha meta é transformar o livro numa carta de alforria• Revista Literal 37
panaméricas vivas
Então vivendo sozinho numa cidade da Grande São Paulo, José Agrippino de Paula relembra como fez seu mais famoso livro, quando recebeu o Portal Literal para uma conversa, há nove anos. O artista faleceu em 2007. Por Gérson Trajano Publicado originalmente em junho de 2003
38 Revista Literal
A pop art foi buscar inspiração nas auto-estradas, nos cinemas, nas prateleiras de supermercados, nas bancas de jornais, em tudo aquilo que havia de massificado na América da década de 1960. Instigado pela pop art, José Agrippino de Paula publicou, em 1967, PanAmérica, livro que é um marco do tropicalismo e, para muitos, da literatura nacional. Sua terceira edição saiu em 2001 pela editora Papagaio. “Eu tenho, por assim dizer, a influência dos pensamentos da pop art em meus trabalhos. Ela é parte dessa tentativa de expor a sociedade de consumo”, diz o escritor, que hoje mora sozinho em uma casa na cidade do Embu, grande São Paulo. Formado em Arquitetura, Agrippino sofre de esquizofrenia, tem 65 anos, cabelos longos e barba grisalha. É cordial, veste camiseta e calção pelo avesso, meias e um par de chinelos rotos nos pés. Vive com a aposentadoria da mãe, aproximadamente 300 reais, e com a ajuda do irmão Guilherme Henrique de Paula e Silva. Ele viveu sua fase mais rica de criação artística na segunda metade dos anos 1960. Escreveu romances (Lugar público e PanAmérica), dirigiu peças (Nações Unidas e Rito do amor selvagem), um espetáculo de música e dança (Planeta dos mutantes) e realizou um filme (Hitler IIIº Mundo). Agrippino continua criando. Em cima de uma estante em sua casa no Embu, tem mais de cem cadernos universitários manuscritos. Todos numerados. Ele não revela o que tem ali, mas avisa que tem material para publicar mais um livro. “Nada parecido com PanAmérica”, alerta ele. Classificado por Agrippino como uma epopéia, PanAmérica pode ser considerado um caso particular das maleáveis formas ficcionais que abriram o campo da escrita nas últimas décadas. O texto não tem parágrafos nem diálogos e só uma divisão de capítulos. Na realidade a obra desconstrói a postura séria e bem comportada das tradições literárias, baseadas em conceitos estéticos que separam o erudito do popular, a alta literatura da baixa literatura, o belo do feio.
Quando de seu lançamento, o livro causou estranheza. Era diferente de tudo o que já se havia publicado no Brasil, como assinalou o crítico Nogueira Moutinho: “Tecnicamente um romance sem assunto, (…) escrito sem luvas, sem assepsia, sem desinfecções prévias, romance em estado bruto, no qual se dá transmutação da realidade em linguagem”. Além disso, a primeira edição (Tridente/RJ, 1967) era impressa em papel pardo, tipo Havana, com a utilização de um tipo de letra redonda e serifada, em negrito, o que acentuava o caráter lúdico e visual da narrativa e apelava para outras formas de relação com o leitor, a partir de um pacto de “curtição”, terminologia muito difundida pela geração 60. A leitura de PanAmérica segue um ritmo veloz, conduzida por um narrador, o eu, usado exaustivamente. Curiosamente esse eu não tem altura, peso, largura, cor, sotaque, nacionalidade, idade ou sequer identidade. Desliza pela narrativa assumindo diversos papéis. Este eu comanda desde uma megaprodução hollywoodiana da Bíblia Sagrada – com Yul Bryner como Deus, Cary Grant como Moisés e John Wayne como faraó egípcio – até uma operação de guerrilha com Che Guevara, terminando com o caos do fim do mundo. A atriz Marilyn Monroe protagoniza diversas aventuras eróticas com o eu. Agrippino diz que abusou do pronome eu porque escrevia muitos diários. “É verdade. Naquela época eu tinha o hábito de escrever diários. Fazia anotações todo os dias. Eu escrevia em primeira pessoa, e não consegui transformar o eu em ele no livro”, justifica. A grande inovação que o texto traz, segundo Agrippino, é o de trabalhar o conceito de mitologia do cotidiano. “Uma novidade naqueles dias e que os leitores e críticos literários levaram algum tempo para entender”, diz o autor. Já não seria a realidade imediata o conteúdo do livro, mas uma realidade secundária – a imagem de um ídolo de massa, um clichê que aparece repetidas vezes nos meios de comunicação, o vasto repertório de ícones e marcas da publicidade. Agora é a vez da representação da realidade moderna, mais Revista Literal 39
Divulgação
precisamente da banalidade cotidiana, como cenário, em que a vida moderna representa-se como espetáculo. Como exemplos de mitologia do cotidiano Agrippino cita os heróis dos comics books e do cinema. O Super-Homem e Marilyn Monroe. No prefácio da primeira edição, o físico Mário Achenberg destaca que o aparecimento de novas mitologias é um dos aspectos mais importantes da vida do século XX. Segundo ele, o impacto dessas novas mitologias sobre a cultura vinha se fazendo sentir com amplitude cada vez maior, e atingindo formas tradicionais de expressão artística, como a literatura e as artes plásticas, depois de se ter manifestado no cinema e nas histórias em quadrinhos. “PanAmérica representa uma contribuição de importância internacional para a utilização literária de alguns dos mitos fundamentais contemporâneos”, escreve Achenberg. 40 Revista Literal
O fato é que, na literatura brasileira, PanAmérica, de maneira precursora, anuncia um movimento de democratização, apropriando-se de um material até então considerado pouco adequado para a construção artística: os temas e ícones dos mass media, os objetos da sociedade de consumo e da indústria cultural. Para Evelina Hoisel, diretora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e autora do livro Supercaos – Os estilhaços da cultura em PanAmérica e Nações Unidas (Civilização Brasileira, 1980), estes aspectos não são apenas citados, mas incorporados à narrativa da obra, constituindo sua própria substância. “Agrippino não se apropria desse material apenas tematicamente. Do ponto de vista formal, a narrativa de PanAmérica se constrói utilizando-se também de procedimentos da linguagem cinematográfica, das histórias em quadrinhos e das artes plásticas – a arte pop de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes
Oldenbyurg, Tom Wesselman. PanAmérica se constitui como um discurso literário pop e nesta tipologia não foi superado por nenhum outro texto da literatura brasileira ou estrangeira”, diz Evelina. Segundo Evelina, em Lugar público, primeiro romance de Agrippino, publicado em 1965, já se notava um esvaziamento psicológico da personagem. “A intenção era de apresentar objetivamente as personagens, mostrá-las através dos diálogos, das ações, dos gestos, mas sem penetrar na sua intimidade, nos seus conflitos, na sua interioridade”, afirma. Para Celso Favaretto, professor da Faculdade de Educação da USP e autor do livro Tropicália – Alegoria alegria (Ateliê Editorial, 1996), no horizonte de uma literatura marcada pela temática da participação política, quer pela via da instrumentalização da linguagem, quer pela alegorização da revolução, que se acreditava em curso, PanAmérica destoava pela forma com que tais temas apareciam. “Destoava também de algumas poucas tentativas na ficção, que nem chegaram a se consolidar como obras, de fazer nesse gênero o que se fazia na poesia experimental de várias extrações”, diz Favaretto. A terceira edição do livro (em 1988 a Max Limonad lançou a segunda edição, com 3 mil exemplares), publicada pela Papagaio [NE. Editora que publicou Lugar público em 2004], tem prefácio de Caetano Veloso, que assumiu sua admiração pelo escritor várias vezes, inclusive em seu livro de Verdade tropical (Companhia das Letras, 1997), quando se diz “deslumbrado como sempre fui com a inteligência sui generis de Agrippino”. Sem contar o verso “PanAméricas de Áfricas utópicas” de “Sampa” e a citação de Hitler IIIº Mundo na música “Cinema Novo”. Para Caetano, PanAmérica deve ser lido pelas novas gerações, pois “não há nada, nem mesmo entre os que hoje fazem uso do mais violento ataque à cultura popular brasileira para aderir sem mediações ao drama atual do mundo, que seja tão radical quanto esse livro”•
O “Bruxo de Embu”, falecido em 2007, ganhou uma homenagem à altura da importância de sua obra multifacetada neste 2012 – A Caixa Exu 7 Encruzilhadas, que revelou a sua verve como compositor e músico. Guru dos tropicalistas e artista multimídia muito antes do termo ser cunhado, Agrippino é conhecido sobretudo pelo romance PanAmérica, mas sua obra inclui cinema, dança, teatro, artes visuais e filosofia. A descoberta do disco Exu Encruzilhadas, de 1971, se deu por acaso, quando a pesquisadora Lucila Meirelles, curadora da caixa, preparava o documentário sobre Agrippino para a Sesc TV e se encontrou com o cineasta Hermano Penna, que havia trabalhado com o artista. O som remete à uma cerimônia de candomblé, com improvisos circulares, e ruídos repletos de sentido ritualístico. Foi gravado em casa com a sua então mulher, a coreógrafa e bailarina Maria Esther Stockler. No verso, ele anotou: “Não ouça música, bicho. Crie seu barulho”. A Caixa de Agrippino reúne, além de Exu Encruzilhadas, um DVD com os curta-metragens Candomblé no Dahomey e Candomblé no Togo, filmados por Agrippino e Maria Esther Stockler na África entre 1972 e 1974; Lero Lero Agrippínico, registro de um encontro entre José Roberto Aguilar, Arnaldo Antunes e Agrippino em 1998; Áfricas Utópicas, entrevistas com Agrippino filmadas entre 2005 e 2006. No livreto, depoimentos de amigos e artistas influenciados por Agrippino, como Arnaldo Antunes, Carlos Reichenbach, Mário Prata e Tom Zé. (BD) Revista Literal 41
ana maria machado 42 Revista Literal
a -
ana maria Do desbunde à imortalidade machado A escritora diz que, mais do que por ser mulher e autora consagrada de livros infanto-juvenis, sua eleição para a Academia Brasileira de Letras significa a entrada na instituição da geração que viveu os ideais de 1968.
Todo o esforço que é necessário para se tornar imortal da Academia não te assustou durante a campanha? Há algo de constrangedor nesse processo de envio de cartas, telefonemas etc.? E já dá para dizer que tal esforço compensa? Ana Maria Machado. São muitas perguntas numa só. Começo pela última. Ainda não dá para dizer se compensa, e cheguei a duvidar muito durante a campanha. Mas não fiquei assustada com o esforço – até porque fui muito natural. De minha parte, não fiz nada assustador. Quanto a me assustar com esforços alheios… bom, a humanidade é inesgotável em sua capacidade de me assombrar. Constrangedor? Para mim, nunca foi. Foi um processo social normal. Primeiro, mandei o mesmo telegrama para todos, manifestando minha intenção de me candidatar. Depois, enviei uma carta formal à instituição, me apresentando para concorrer à vaga. Daí em diante, fiz minha própria plataforma pessoal.
Por Luiz Fernando Vianna Publicado originalmente em maio de 2003
Resolvi que procuraria todos por telefone e visitaria quem estivesse querendo me receber ou me conhecer melhor – afinal, não podia ter a pretensão de me achar superconhecida… Melhor ter uma certa humildade. Mas também não iria insistir com quem não me abrisse os braços. Cada eleitor tem o sagrado direito de ser deixado em paz e resolver sozinho. Nas visitas, conheci gente interessantíssima, inteligente, tive conversas fascinantes. Não falei mal de ninguém, não falei bem do que não admiro, não fui hipócrita, não constrangi ninguém, não fui constrangida. Agora, uma coisa posso garantir. Foi uma das experiências mais reveladoras sobre a natureza humana que já tive. Saio dela com preciosas observações. Você está em duas categorias raras na ABL: mulher e autora consagrada pelos livros infanto-juvenis (neste caso, uma categoria inédita). Isso dá um sentido, digamos, político
Revista Literal 43
à eleição, como se ela tivesse um significado além do próprio resultado? Eu acho que tudo, sempre, tem sentidos. O político é um deles. Mas nesse caso é engraçado – eu me candidatei achando que o sentido político estava justamente aí, no fato de ser mulher e escrever para crianças. Mas durante a campanha e, sobretudo diante da inacreditável reação dos leitores após minha eleição (um mar de carinho e vibração, uma avalancha de telegramas, telefonemas e e-mails), eu fui percebendo outra coisa. Não chego à ABL apenas como mulher e autora infantil. Mas, sobretudo, como uma representante da geração que viveu 1968, militou, pagou esse preço, desbundou, foi meio hippie, pregou paz e amor, descobriu ecologia, dançou e namorou muito, teve amizades coloridas, viveu a revolução sexual… De certo modo, isso já acontecera com Paulo Coelho. Mas como ele hoje tem uma imagem mais mágica ou mística, acho que nem sempre essa bagagem ficou tão evidente para os leitores na eleição dele. Comigo, foi incrível. As pessoas se manifestam muito nesse sentido, falam em representante de uma geração, associam à chegada de Lula ao governo, a termos um músico tropicalista no Ministério da Cultura… Um me escreveu que, comigo, o biquíni entrava na Academia, pode? Vários falaram que eu vou levar a alegria à ABL. Não é engraçado? E mesmo durante a campanha, percebendo novidades no ar, a oposição à minha entrada andou espalhando que eu não tinha o perfil da instituição e, para entrar, precisava tomar um banho de loja e mudar o figurino… Como se eu não tivesse sido a vida toda uma abridora de veredas e iniciadora de modas (e não uma seguidora de figurinos alheios)… Ser sempre lembrada como autora de livros infanto-juvenis não deixa enciumada (e até magoada) a autora de “livros para adultos”? Magoada, não. Enciumada, talvez. Às vezes, levemente entristecida – como uma mãe que vê um dos filhos ser rejeitado por causa do temperamento efusivo de outro e sabe que isso é injusto. 44 Revista Literal
O Prêmio Hans Christian Andersen em 2000, o Prêmio Machado de Assis em 2001, e agora a eleição para a ABL são selos de consagração, de reconhecimento de toda uma obra. Que tipo de desafios você se impõe para que essa obra permaneça em movimento e não se deite nos louros da fama? O primeiro é não pensar muito nisso. Não tenho projeto de carreira nem me imponho desafios. Tenho é muito prazer em escrever. Tanto que procuro sobreviver disso para não ter de desperdiçar o tempo com outras coisas. Louro é para botar no feijão. Quanto a deitar em certos louros (não necessariamente da fama), pode mesmo ser muito prazeroso, não há porque evitar. Mas são prazeres da vida, não da obra – desta, o grande prazer está no próprio ato de escrever. Que tipo de contribuição o jornalismo deu para a sua literatura? Rapidez de digitação, espírito de observação, ceticismo em relação às verdades, e a certeza de que há sempre versões diferentes, outras maneiras de ver e contar aquela mesma história. É fundamental não se deixar manipular pela primeira impressão, pensar “Esse cara está dizendo o que interessa a ele, mas o que interessa ao leitor do jornal e ele não está querendo dizer?”. Isso acaba deixando uma herança muito útil para a hora de escrever. O Verissimo já disse que a gente sempre tem de dizer: “Peraí, não é bem assim”. Ou, como dizia o Raymond Williams, sempre dá para procurar uma alternativa. Nos anos 1970 o que você queria ser mesmo era pintora, tendo realizado várias exposições. Você acha que a escritora, de alguma forma, sufocou a pintora, não deixou que ela tivesse tanto espaço quanto poderia ter? Não, não sufocou, mas canalizou de modo diverso. Na verdade, o que houve foi que meu fascínio em pintura sempre foi o material visual mesmo – cor, textura, vibração da pincelada ou espatulada sensível, transparência, formas, massas, composição… Amo Matisse, meus brasileiros preferidos são Volpi, Carvão,
Ione Saldanha. A chegada da pintura conceitual mexeu muito comigo, eu não sabia fazer aquilo nem queria aprender, não tinha nenhuma vontade de expressar conceitos por meio de uma linguagem plástica. Se era para conceituar, que fosse com palavras.
Por 17 anos você foi dona de livraria, e já disse ter deixado de ser por achar que é incompatível ser autora e comerciante. Mas você acredita ser possível vender livros em boa quantidade com um toque artesanal, ou a profissionalização que vem com o sucesso tende a esfriar a relação do livreiro com o leitor? Depende do que você está chamando de toque artesanal. Mas se for com o pé no chão, sem delírios regressivos, tenho certeza de que é
poetinha), Cecília, Gullar, Paulo Mendes Campos, Adélia, Cacaso. Lira e antilira. E nossos admiráveis músicos poetas, Chico Buarque, Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Noel, Cartola, Caymmi. Sou muito ligada em música e letra de música. Além de cinema, claro, fundamental na minha formação, mas acho que não é isso que você está querendo saber. Nas leituras de minha formação, além de Lobato e Macedo (vejam só…), foram muito importantes alguns romancistas como Machado e Erico Verissimo (que eu amei de paixão), Guimarães Rosa. E depois, Clarice, Lygia, Lya Luft, Rubem Fonseca – aí já não tanto em formação. A dobradinha dos dois Andrades, Mario e Oswald, foi sempre um pêndulo fundamental a me fazer oscilar entre admiração e paixão. Mas
“Foi uma das experiências mais reveladoras sobre a natureza humana que já tive [participar das eleições da ABL]. Saio dela com preciosas observações.”
possível. O toque pessoal me parece indispensável a um livreiro – e maravilhoso num editor, também. As melhores livrarias do Rio, por exemplo, têm esse toque – mesmo crescendo, abrindo filiais e fazendo sucesso. Só não dá é para esquecer que matemática existe e, embora seja também uma linguagem, se distingue da poética por não poder ser ambígua jamais. Contas têm de ser pagas, números não são metafóricos nem de elástico, não dá para gastar mais do que se ganha – no mercado editorial ou na economia de um país. Fundamental ser realista. Mas não é necessário esfriar relação com o leitor para ser responsável. É claro que você admira dezenas de escritores, mas poderia citar alguns brasileiros (para diminuir o universo) que foram e são muito importantes para você? Começo pelos poetas que amo – os românticos e mais Drummond, Cabral, Bandeira, Vinicius (muito mais que apenas um letrista e
acho que poucos terão sido tão importantes quanto Rubem Braga, cujas crônicas eu lia na adolescência, relia, recortava, invejava como modelo absoluto do que é possível fazer com a linguagem sem ter o menor ar de esforço, feito passarinho que canta. Até hoje sou absolutamente fascinada por ele. E tem também outra vertente importante – a dos ensaístas. Como vocês me pedem brasileiros (leio muito ensaio estrangeiro, sempre, também) fico com vários que nos pensaram de forma admirável e me deixaram marcas, foram/são muito importantes para mim, desde Euclides da Cunha: Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda (que estou sempre relendo, acho incrível), Celso Furtado, Câmara Cascudo, Raymundo Faoro, Alfredo Bosi, Darcy Ribeiro. Olho essa lista agora, sei que devo estar deixando vários de fora, mas também penso em outros (sobretudo mais contemporâneos) que rejeito um pouco, embora admire, mas é que muitas vezes lhes Revista Literal 45
falta uma clareza de linguagem que enche de obstáculos a navegação por suas páginas. Esses aí não são apenas pensadores, mas seus textos me atraem literariamente, são gostosos de ler e reler.
Você fez e faz a cabeça de muita gente, que aprende a amar os livros por sua causa. Você poderia contar uma ou duas histórias que, ao longo desses anos todos de carreira, tenham te dado uma certeza absoluta e comovente desse seu papel? Há uns dez anos, numa livraria em Belém. Inauguração do setor infantil, especial, num segundo andar. A encarregada, uma moça negra linda, se aproxima e se apresenta: “Eu sou a menina bonita do laço de fita” (título de um livro meu). E explica: era criança, pegou esse meu livro para ler na escola e, pela primeira vez, viu uma protagonista preta apresentada como ideal de beleza. Ficou pensando que livro devia ser uma coisa legal, porque mostrava que ela podia ser como se sentia por dentro e pouca gente via. Saiu procurando mais livros. Desatou a ler tudo o que encontrava. Na adolescência, se ofereceu para trabalhar numa livraria depois da escola, para ter acesso a tudo quanto era livro. Foi subindo no emprego e acabara de convencer o patrão a abrir esse setor infantil totalmente gerenciado por ela. Por causa do meu livro. Daí me convidarem para a inauguração.
Um e-mail que recebi no meu site há duas semanas e transcrevo, omitindo só a identificação: Mensagem: Oi, Ana! Meu nome é xxxxxx, tenho 36 anos, sou contadora de histórias e há muito tempo protelo esta conversa. Na realidade, eu queria te agradecer, mas te agradecer imensamente. Bem, vou te explicar o porquê. Quando criança nunca tive muito contato com os livros, meus pais eram semi-analfabetos e para piorar o meu pai era alcoólatra e um belo dia foi embora deixando a mulher e 03 filhas, sendo que uma era recém-nascida. Enfim, um verdadeiro drama mexicano! Livro era uma coisa muito distante e só lia o que a 46 Revista Literal
professora mandava e na maior má vontade, pois lia aquilo que não queria. Bem, passamos por muitas privações, mas prosseguimos. Na década de 80, minha mãe foi assaltada e teve várias seqüelas daquele trauma. Eu quase enlouqueci, tive vontade de morrer, me matar. Sei lá, cometer alguma loucura (passava pela adolescência e como sofria!). Um belo dia, resolvi esperar a chuva passar dentro de uma biblioteca (chamava-se Biblioteca Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo – SP). Biblioteca silenciosa, passei pelas estantes e eis que vejo um livro: Alice e Ulisses, gostei da sonoridade. Gostei do sorriso daquela mulher na contra-capa. Fiz a carteirinha de sócia, esperei a chuva passar, levei o livro. E como diria Clarice Lispector/Rodrigo S.M. em A Hora da Estrela: (EXPLOSÃO). Você me deu um impulso de vida, um alento para a alma. Comecei a ler tudo. Fernando Sabino, Jack Kerouac, Sartre, Roberto Drummond, Carlos Drummond, Maiakóvski, os irmão Campos e Décio Pignatari, Cecília Meireles, Mário Quintana, Érico Verissimo. Enfim, devorei a biblioteca. Naquela época, nem sabia que você escrevia para crianças. Resolvi fazer o curso de artes cênicas, precisava encontrar uma voz. Precisava encontrar a minha voz. Trabalhei, batalhei, o tempo passou… Em 1994, passei por uma outra crise (descobri que em sânscrito crise significa purificar-se). Tinha largado meu emprego numa grande empresa para viver de arte cênica e você sabe como isto é difícil. Não agüentava mais viver atrás de uma mesa, cumprir horários. Domingo à noite, a música do encerramento do “Fantástico” era minha sentença de morte. Saí do emprego e para ganhar uma “graninha” extra fazia uns bicos de pesquisa de mercado. Eis que, um belo dia, um amigo passa na Avenida Paulista (e eu lá fazendo pesquisa) e avisa que tem um curso de contação de histórias em Santo André na Casa da Palavra. O curso já havia começado há duas semanas. Não sei por quê, mas resolvi fazer. Cheguei lá, o professor fala: – Olha, já está lotado. Não dá! Não pode! Eu respondi: – Eu não quero certificado, eu só quero o conhecimento. Prometo que fico quieta, só vou ficar escutando.
Divulgação
O curso durou quatro meses com dois encontros por semana. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Da turma de 20 inscritos e 1 calada (eu), só eu continuo na batalha. Descobri que é isso que eu sei fazer: CONTAR HISTÓRIAS. Adoro, amo isto. Tanto que hoje apesar do DRT de atriz, de radialista digo com a boca cheia que minha profissão é contadora de histórias. Já que conto histórias, resolvi fazer um curso como aluna ouvinte na USP na disciplina de Literatura Infanto-Juvenil e lá mais uma vez me encontrei e me encantei com você. Isso foi em 1998 e 1999, toda quinta-feira. Até que a Prof ª xxxxxxxx fala: – Você gosta tanto! Faz uma faculdade, e quem sabe você depois faz um mestrado, um doutorado. Eu e o xxxxxxx (meu amado companheiro) estávamos mudando de São Paulo para Santo André e fiz vestibular num local chamado Centro Universitário Fundação Santo André (era a faculdade mais barata e uma das melhores). Entrei. Atualmente estou cursando o 4º ano de Letras e neste ano temos uma matéria que amo de paixão que é Literatura Infanto-Juvenil com um professor muito bom… (suspense). Vou à biblioteca da Fundação (sou rata de biblioteca, livraria e sebo) e vejo uma revista chamada D.O. Leitura e me falaram que a edição de dezembro abordava literatura infantil. Fui, li e qual a minha surpresa você sendo entrevistada
pelo meu professor de Literatura Infanto-Juvenil, o Marcos Antônio de Moraes. Nossa fiquei tão feliz! Não sabia o porquê. Mas, estava feliz. Acho que foi pelo fato de te reencontrar. Estamos ficando cada vez mais próximas! Encontrei o Marcos e numa batelada falei tudo isso. Ele me deu de presente a revista e falou para te escrever. Tomei coragem e cá está. Hoje trabalho como contadora de histórias, desenvolvo projetos de incentivo à leitura, de contação de histórias, trabalhei dois anos com portadores de necessidades especiais contando histórias. O meu pão de cada dia é ganho contando histórias. No ano passado gravei o primeiro CD de histórias infantis feito no Grande ABC (chique, né?!). Estou terminando a faculdade e com certeza farei mestrado na área de literatura infantil. E é por isso que estou te escrevendo, porque você me ensinou o gosto de ler, de ler por prazer. Você sem saber me resgatou do fundo do poço. Foi a minha fada-madrinha, me mostrou que é gostoso, que é bom ler. E foi este ato que impulsionou minha vida. Estou escrevendo num ‘supetão’, pois se eu pensar eu não mando. Desculpe os erros, a falta de respiração, de pontuação. Parabéns ‘atrasado’ pelo Hans Christian Andersen – o prêmio. E mais uma vez MUITO OBRIGADA!!!!! Beijos. Luz. Até sempre...• Revista Literal 47
flip Cidade dos livros
I Festa Literária Internacional de Paraty começa menor do que se planejava inicialmente, mas despertando um interesse maior do que os próprios organizadores supunham. Por Luiz Fernando Vianna Publicado originalmente em julho de 2003
A I Festa Literária Internacional de Paraty foi concebida, em 2002, para ser um evento com 30 escritores e várias ramificações. As oscilações no câmbio e todas as incertezas econômicas do país quase solaparam o sonho da inglesa Liz Calder, editora da poderosa Bloomsbury (selo da série Harry Potter) e uma apaixonada pela cidade colonial do Estado do Rio. Mas em 2003, com o apoio de alguns patrocinadores e o empenho de editoras brasileiras, o projeto se viabilizou, só que numa versão um pouco menor do que a original. Para a imprensa e as inúmeras pessoas que têm procurado o estafe da festa em busca de informações, ingressos e dicas de hospedagem, a redução do tamanho não significou redução de entusiasmo: o evento começa na próxima quinta-feira (31/7) envolto em reportagens de capa de cadernos culturais, com os ingressos à beira da extinção, pousadas da cidade lotadas e a certeza de que nunca houve algo similar no país. “Nós achávamos que a recepção à festa seria boa, até pelo charme da novidade, mas a simpatia foi muito além disso”, diz o jornalista Flávio Pinheiro, diretor artístico da Flip. “Acho que pesaram para isso vários fatores, como Paraty ser uma cidade encantadora e essa possibilidade de as pessoas saírem da rotina mais áspera do cotidiano e passarem alguns dias associando literatura e entretenimento, algo raro no Brasil”.
48 Revista Literal
Pensada como um evento aconchegante, intimista, a Flip se adequa na reta final ao enorme interesse que despertou. Além dos 195 lugares previstos para a sala da Casa de Cultura (ingressos a R$ 10) em que acontecerão as palestras e dos outros 176 diante de um telão que mostrará, na mesma Casa, as participações dos escritores (R$ 8), haverá um segundo telão, na Praça da Matriz, que permitirá aos sem-cadeira ver Eric Hobsbawn, Luis Fernando Verissimo e os outros 23 autores que estarão em ação entre quinta-feira e domingo. Responsável pela programação da festa, Flávio Pinheiro não esconde uma ponta de decepção por não ter conseguido manter a ambiciosa concepção original, que previa, dentre outras coisas, um grande programa de incentivo à leitura nas escolas de Paraty – o que haverá será bem pequeno – palestras acontecendo simultaneamente, um prêmio literário e mais três autores estrangeiros além dos cinco que virão. Pelo menos o estímulo a jovens escritores se confirmou com o livro Paraty para mim (Planeta), reunião de contos feitos durante três semanas passadas na cidade por João Paulo Cuenca, Chico Mattoso e Santiago Nazarian – que participarão da festa. “Também imaginávamos formar as mesas partindo dos temas para escritores, e não dos escritores para os temas, como aconteceu em alguns casos porque os convites
só puderam ser feitos em 2003, em cima da hora”, explica ele. Por este motivo, o historiador inglês Eric Hobsbawm, os escritores ingleses Julian Barnes e Hanif Kureishi e o romancista americano Don DeLillo se tornaram atrações isoladas, sem companhia nas mesas. Já o escritor americano Daniel Mason, que está morando em Pernambuco em função de seu próximo livro, dividirá sua mesa com o brasileiro Bernardo Carvalho, que lerá um trecho do livro que está escrevendo a partir de uma viagem que fez à Mongólia.
de Gales, inspiração maior da Flip. Ana Maria Machado, por exemplo, lerá um conto seu, ela que nunca publicou um livro de contos. A seu lado, Milton Hatoum apresentará um trecho de seu terceiro romance, ainda em produção. Marçal Aquino também mostrará um pedaço de um trabalho ainda em progresso, Cabeça a prêmio. Já Luiz Ruffato lerá o conto inédito “Sulfato de morfina”. O que não se conseguiu foi fazer Chico Buarque ler um trecho de seu novo romance, embora o livro já esteja quase concluído. Chi-
A afinidade temática entre os dois acontece em várias outras mesas do evento, como as dedicadas à crônica (com Zuenir Ventura, Adriana Falcão e Joaquim Ferreira dos Santos), ao humor (Luis Fernando Verissimo, Millôr Fernandes e Ruy Castro) e à literatura marcada pela violência urbana (Patrícia Melo e Marçal Aquino). Outros encontros prometem ser interessantes, como o do psicanalista Jurandir Freire Costa, que falará da perda do valor da vida nos dias de hoje, com o médico Drauzio Varella, que lança este ano um livro sobre pessoas que, sabendo-se com câncer, se viram diante da possibilidade concreta da morte. Outro autor que terá uma mesa só para ele será Ferreira Gullar, que lerá trechos de seu livro Relâmpagos e falará de literatura e artes plásticas. Muitos dos autores convidados lerão textos inéditos, algo que faz o charme do festival literário de Hay-on-Wye, no País
co, editado no Reino Unido pela Bloomsbury e amigo de Liz Calder, estará em Paraty no dia 31 para homenagear seu parceiro e compadre Vinicius de Moraes na abertura da Flip. Ele lerá poemas e cantará uma música na Praça da Matriz, numa noite que também contará com a participação do ministro da Cultura, Gilberto Gil, de Adriana Calcanhotto, Antonio Cicero e outros. Independentemente do que acontecerá nos quatro dias da 1ª Flip, já há fichas suficientes para se apostar numa segunda edição do evento, possivelmente com mais apoios e estrutura. Flávio Pinheiro já pensa em ampliar o leque da programação, convidando mais autores de não-ficção, críticos literários, atrações internacionais, aproximando-se da concepção original e criando uma estrutura que faça a festa crescer sem brigar com o ambiente aconchegante de Paraty•
Evento reúne na cidade colonial autores estrangeiros como Eric Hobsbawm e Don DeLillo e 20 escritores nacionais, entre eles Ferreira Gullar, Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura
Revista Literal 49
O pecado flip do sucesso
A primeira Festa Literária Internacional de Paraty teve só um problema: fazer sucesso demais. Impossibilidade de atender ao interesse de tanta gente foi o único senão do evento, mas também é o primeiro passo para que ele se firme como um charmoso, sofisticado e singular encontro em torno de idéias e livros.
Eric Hobsbawn (1917-2012), por Loredano
Por Luiz Fernando Vianna Publicado originalmente em agosto de 2003
50 Revista Literal
Se a Festa Literária Internacional de Paraty pecou, foi pelo sucesso – algo que, como repetia Tom Jobim, incomoda muita gente no Brasil. O balanço da primeira edição da Flip, encerrada no domingo (03/08/2003), só não é totalmente positivo porque o interesse que despertou foi tamanho que não houve como atender a tanta demanda. Mas como passo inicial de um evento que se pretende anual, os objetivos foram mais do que alcançados, obtendo-se uma repercussão que nem o mais otimista dos organizadores poderia prever. Com a cobertura diária da Rede Globo e todas as capas de cadernos culturais conseguidas na primeira, fica difícil imaginar que a segunda Flip vá ter a mesma dificuldade para conseguir patrocínios. Fechando com mais antecedência patrocínios mais robustos, a equipe chefiada pela inglesa Liz Calder – editora da Bloomsbury e idealizadora da festa – poderá arrumar melhor os espaços do evento, talvez mantendo a Casa de Cultura como sede principal das palestras/ leituras, para não perder o tom intimista, mas encontrando formas outras e confortáveis de se alcançar o grande público que a cidade atrai por causa dos autores convidados. A montagem
de uma grade com atrações simultâneas, como planeja o jornalista Flávio Pinheiro, responsável pela programação, também poderá diluir a disputa por ingressos. Flávio ainda sonha com a presença de mais não-ficcionistas nas mesas, ampliando o leque de temas e as ofertas para o público. A presença de autores de outras línguas além do inglês e do português seria mais uma forma de diversificar a programação. Sonha-se também poder fechar com menos pressa as mesas temáticas, aproximando os autores em função dos assuntos, e não tratando-os como atrações separadas, como foi necessário fazer em muitos casos dessa primeira edição. Ainda assim, o que encontros como a Flip permitem, acrescentando algo concreto à experiência de quem lê livros, é descobrir afinidades insuspeitas entre autores e abordagens. Algumas nem são insuspeitas, pois, ao juntá-los, já se imaginava, por exemplo, que Luiz Ruffato, mineiro de Cataguases, e Tabajara Ruas, gaúcho
sar dos tempos terríveis em que vivemos, o ser humano pode sempre se reinventar, o que pode acontecer através do combate à intolerância e da construção da justiça social, da afirmação da capacidade de emocionar da arte, da reforma dos valores culturais de uma sociedade ou do enfrentamento de arraigados preconceitos. O historiador inglês Eric Hobsbawm, com incrível vitalidade aos 86 anos, foi o grande astro da 1ª Flip, fazendo a palestra mais concorrida, dando autógrafos e conciliando brilhantismo e simplicidade. Mas todo o naipe de convidados internacionais funcionou muito bem, com a carranca de Hanif Kureishi se transformando em fino humor e ótima literatura na hora de sua participação, com ele podendo, assim, se aliar ao time da simpatia formado pelo também inglês Julian Barnes, os americanos Don DeLillo e Daniel Mason e todos os brasileiros. Dentre estes, quem mais saiu ganhando com a festa literária foram os jovens Chico
de Uruguaiana, fossem aproximar seus olhares sobre dois diferentes universos do interior do Brasil; ou se previa que o psicanalista Jurandir Freire Costa, que vem refletindo sobre a desvalorização da vida, fosse tangenciar o relato do médico Drauzio Varella, um especialista empírico em violência urbana e que, ainda por cima, está escrevendo um livro a partir dos testemunhos de pessoas que se viram diante da possibilidade concreta da morte. Mas não se podia prever que o trecho escolhido para leitura pelo inglês Hanif Kureishi de seu último livro, The body, fosse se encaixar tão bem na explanação feita por Jurandir horas mais tarde, no mesmo sábado; ou que, de forma mais difusa, as falas de Eric Hobsbawm, Ferreira Gullar, Jurandir e Drauzio pudessem ter um ponto de contato na crença de que, ape-
Mattoso, João Paulo Cuenca e Santiago Nazarian, autores dos contos do livro Paraty para mim (editora Planeta), escritos durante três semanas na cidade colonial para que o resultado fosse lançado no evento. Até aparecer no “Jornal Nacional” eles apareceram, abrindo um caminho que pode dar ótimos frutos. De uma forma geral, foi difícil ver gente mal-humorada pelas ruas de pedras da linda Paraty, apesar da dificuldade de se conseguir ingressos. Houve quem classificasse o evento de impopular, mas pode ser que esses críticos sejam aqueles que querem sempre estar em listas seletas de convidados, e quando não estão dizem que o “povo” ficou de fora. A Flip pode crescer para os próximos anos organizando-se melhor, mas sem perder o intimismo, a ternura e o bom humor •
Foi em clima de harmonia e gerando afinidades literárias e intelectuais que transcorreram os quatro dias da Flip, apesar dos mal-humorados de plantão
Revista Literal 51
Paraty pra mim 16 dias em 40 mil toques
Escritor conta como foi a experiência de escrever, na cidade colonial do Rio, uma história sob encomenda para um livro lançado na I Flip Por João Paulo Cuenca Publicado originalmente em julho de 2003
Por ocasião da primeira Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), fui convidado pela Editora Planeta junto aos escritores Chico Mattoso e Santiago Nazarian para redigir um livro de contos ambientados na cidade. O material será lançado na festa organizada pela inglesa Liz Calder (Bloomsbury), na qual apresentaremos o trabalho como palestrantes convidados. Para executar a árdua tarefa de escrever quarenta mil toques de ficção em dezesseis dias, fui a Paraty munido de laptop alugado pela editora, que, com a colaboração fundamental da coordenação da Flip, nos alojou na bela pousada Mercado de Pouso, no centro histórico da cidade. O escritório da Flip, localizado em um casarão colonial a poucos passos, serviu de QG, onde pudemos conferir e-mail, receber os vales que nos deram direito a fartas refeições em uma rede de restaurantes conveniados e contar com a simpatia incansável das organizadoras da festa. Cama feita, chuveiro quente, vista para o mar, café da manhã, almoço e janta. As únicas preocupações durante os dias de Paraty foram simples: escrever e afugentar fantasmas. Acredito que a convivência diária com a rotina, humores e marés da cidade me garantiu um olhar menos viciado sobre suas paisagens e um mergulho mais profundo na essência de 52 Revista Literal
suas ruas e espaços. Particularmente, deixei-me contaminar pelas calçadas de pedra de Paraty e fiz dela co-autora do meu conto. Ao perambular em caminhadas sem destino certo, visitas ao bairro pobre (Ilha das Cobras, praticamente colado no centro histórico), ao cemitério da cidade e arredores, entre passeios de barco e trilhas pelo mato, o lugar acabou impregnando meu texto com um humor próprio e surpreendente. Esperava que a cidade colonial fosse despertar em mim uma prosa suave, de temática tranqüila como seu mar de baía. Mas o vazio das madrugadas passadas em claro, muitas vezes vagando bêbado por suas ruas tortas e fantasmagóricas, acabou permitindo que escapassem de mim para o texto conflitos e fantasmas, estes sim interiores, que se mesclaram com a paisagem colonial de forma indissolúvel. Apesar de Paraty ser para mim uma cidade especial que se transformou em sinônimo de vitórias importantes, inclusive sobre certos bloqueios, estará sempre gravada na memória com uma parcela de angústia – relendo meu texto, vejo isso presente em cada descrição e em cada momento da narrativa. A principal expectativa ao chegar era a de que não conseguiria escrever o texto no tempo determinado pela editora. O cronograma aper-
tado e as condições atípicas da jornada insinuavam aos meus ouvidos que não seria capaz de cumprir a tarefa. Aos poucos fui liberando a escrita, desanuviando os canais. A rotina era simples: acordava cedo, nove da madrugada e tomava um lauto café da manhã. Depois, voltava ao quarto, abria a janela e deixava a paisagem entrar. Posicionei a mesa e o computa-
José Vicente da Veiga, com prefácio de Antonio Candido. Santiago Nazarian é autor de Olívio, romance que ganhou o Prêmio Fundação Conrado Wessel de Literatura, e redator publicitário – também é conhecido por escrever roteiros de tele-sexo. Além de um coleguismo infalível, conseguimos desenvolver laços de amizade nos dias de Paraty. Não é comum ter
dor colados à janela baixa, quase na altura das pessoas que andavam pela rua. Sentado, podia ver a baía, alguns barcos, a praça na frente da pousada e a Igreja de Santa Rita, que me acordava com doze badaladas sempre que voltava a dormir depois do café. Entre o almoço e a janta, andava pela cidade, ia até praias próximas e vagabundeava sem preocupações. Alguns foram os passeios: andamos de barco até ilhas próximas, conhecemos cachoeiras ao pé de morros altos. O entorno da cidade reúne paisagens contrastantes o tempo inteiro. A experiência de passar duas semanas enfurnado em mim mesmo, olhos virados pra dentro e a cabeça fritando longas páginas em branco, seria muito mais difícil se não fosse a companhia inestimável de meus colegas de escrita Chico Mattoso e Santiago Nazarian. O primeiro é editor da revista literária Ácaro e co-autor do livro Cabras – Caderno de viagem, escrito com Antônio Prata, Paulo Werneck e
contato diário com pessoas que possuem objetivos parecidos com os meus – principalmente hoje em dia, quando a nossa escrita já é considerada um despautério irresponsável mesmo antes de ser lida. Confesso que temi pela convivência em Paraty, já que nunca sequer havia visto os outros dois. Como freqüentador bissexto do meio literário, sei que gente cujo nome se imprime em papel normalmente possui ego maior do que as costas do mundo podem suportar. Mas felizmente não foi esse o caso: encontrei amigos de longas caminhadas pela praia, algumas bebedeiras e horas de conversa sobre o estranhamento que é o ato de escrever. Isso foi tão importante para mim quanto a quebra do bloqueio inicial e a autodisciplina que acabei desenvolvendo naqueles dias. Depois do jantar, voltava à pousada e estabelecia metas. Fazia contas e imaginava quantos toques precisaria escrever
“Construí a minha Paraty subvertida, amarga (…) sob aquele silêncio que, de tão perfeito e claro, não me deixava dormir”, relata o autor carioca
Revista Literal 53
por dia até o final da viagem. Comparávamos nossos números, o ritmo era de competição – não entre nós três, mas contra nossos próprios relógios. Produzi bastante no intervalo de poucas horas entre o jantar e as saídas noturnas diárias, onde acabávamos bebendo cerveja em algum boteco. À medida que o tempo chegava ao fim, o processo ficava mais neurótico – comecei a escrever de madrugada, acordando de pesadelos terríveis. Algumas vezes, despertava só pra escrever poucas linhas e voltar a dormir. Em um dia ou outro, sob efeito, escrevi o que não pude me lembrar no dia seguinte. Inventei sentido para o que não fazia. Distorci sentimentos e impressões, moldei a pedra daquelas ruas com as mãos, como argamassa, e construí a minha Paraty subvertida, amarga, transubstanciando calmaria em pesadelo, sob aquele silêncio que, de tão perfeito e claro, não me deixava dormir. Escrevi o meu primeiro livro, que sairá em setembro pela Editora Planeta, em dois anos espaçados. Em surtos de criatividade, respei-
Sou daqueles que acreditam que literatura, assim como o amor, é uma ilusão criada pra esquecer ou ludibriar a morte tando seu ritmo errático, sem a menor ordem formal e sem imaginar que sequer pudesse ser impresso. Paraty foi minha primeira experiência sob pressão para produzir uma peça literária profissionalmente. Acredito que cumpri meu objetivo, embora de forma bem diferente do que imaginava. Quando lá cheguei, tinha um início. E imaginava um fim, que nunca chegou: a história foi toda desenvolvida na viagem. Paraty se despediu de mim com o céu estre54 Revista Literal
lado e claro, noite de maré baixa. Suas casas, janelas e paisagens de pedra me acompanhando pelo caminho. Confesso que tentei trapacear com as esquinas tortas e vazias da cidade, testemunhas do que não mais existe. Sou daqueles que acreditam que literatura, assim como o amor, é uma ilusão criada pra esquecer ou ludibriar a morte. Hoje sinto a prosa seca, mas à viagem devo algumas certezas. A mais importante delas: por alguns momentos, fui capaz•
Leia trecho do conto escrito por JP Cuenca em Paraty, “A carta de pedra” “A água sobe pelas ruas, se enfia entre pedras que nunca se encaixam, irregulares, surge e lava os sonhos da calçada, assusta os gringos de pernas brancas e máquinas fotográficas, lenta avança pelas paredes em ruas sem bueiro, os poucos moradores protegem as soleiras de suas casas, calçam galochas ou ficam em casa ouvindo o silêncio, o som de um passarinho cortando o céu, um motor empurrando um barco, o vazio dentro das igrejas, alguém varrendo lama dentro de casa, as folhas e árvores dançando umas contra as outras, atravesso a rua por uma tábua e um cão me segue, hesito, meto o pé n’água e tropeço num peixe, resfolegando quase morto, perdido na sua respiração inversa, olhos esbugalhados, se contorce nesse mar lamacento de
rua, acuado por uma cidade de ossos que se espreguiça pra fora e assoreia a baía – mas o mar, ele se vinga. Sempre há de se vingar. Procuro pela rua certa, o número certo, dou voltas por quarteirões quase iguais, portas quase iguais, casas quase iguais, erguidas em pedra, madeira e trezentos anos. Dobro esquinas desertas, descubro igrejas coloniais, setecentistas, pesadamente simples, como se lá estivessem desde sempre, elefantes de mármore e pedra, acordo dessa eternidade quando leio “dois reais” e um pedido de contribuição que pago, entro, passo por fantasmas e rezo uma prece vazia. Peço pra encontrar a rua certa, o número certo. Gostaria de acreditar em algo além disso. O remetente.” Revista Literal 55
Os bons burgueses
Em O século de Schnitzler, o autor de dramas e comédias sobre o casal amoroso é uma espécie de mestre-de-cerimônias para uma biografia mais ampla e dramática: a da classe média vitoriana. Por Wilson Coutinho Publicado originalmente em janeiro de 2003
Divulgação
56 Revista Literal
O livro O século de Schnitzler – A formação da cultura da classe média (1815-1914) (Companhia das Letras, 2002) é a condensação da longa e ousada história da burguesia escrita por Peter Gay, talvez mais conhecido por ser um dos biógrafos mais atualizados do pai da psicanálise com o seu Freud: uma vida para o nosso tempo [NE. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 1989 e que ganhou edição econômica em 2012]. Gay, é claro, utilizou muito a psicanálise como historiador. Tem o bom senso de não torná-la hollywoodiana: nem toda psicose pode-se supor que nasce porque um sujeito maluco empalhou a mamãe. Gay usa a psicanálise sabendo de seus limites e de suas vantagens. Neste seu último livro, o escritor e dramaturgo vienense Arthur Schnitzler (1862-1931), amicíssimo de Freud e autor de dramas e comédias sobre o casal amoroso, não é o biografado
de olho nele. Em 1950, Max Ophuls realizou uma pequena obra-prima cinematográfica, A ronda (Reigen, em alemão), dez diálogos amorosos com casais de apaixonados que seguem a seguinte ciranda: a prostituta com o soldado, o soldado com a manicure, esta com o jovem gentleman, que ama uma mocinha. Esta se casa. O marido envolve-se com um jovem, que se apaixona por um poeta. O bardo, então, ama uma atriz. A atriz passa para os braços de um ricaço e este retorna para a prostituta. É um brilhante, malicioso e devastador carrossel da desilusão e inquietação amorosa. Recentemente, a obra de Schnitzler Traummnovelle, de 1926, serviu para o enredo de De olhos bem fechados (1999) filme de Stanley Kubrick, com Tom Cruise e Nicole Kidman nos papéis principais. Embora a serviço de dois bons filmes, a medida do sucesso vienense de Schnitzler
nem mesmo o herói principal. É uma espécie de mestre-de-cerimônias para uma biografia mais ampla e dramática: a da classe média vitoriana. Mantém uma boca-de-cena freudiana: a irritação do escritor enquanto jovem, quando seu pai violou seu diário, no qual descrevia suas experiências amorosas, fato que, segundo Gay, marcou sua neurótica vida amorosa, cujo dilema parece ter sido “ou você arruma uma outra amante ou permanece com a antiga”. Drama que encenou várias vezes em seu teatro. O dilema parece bobo. Schnitzler realizou, porém, magias com ele. O cinema é, claro, ficou
como escritor e dramaturgo parece hoje bastante diminuído, muito porque as pressões e ansiedades amorosas narradas por ele se perderam com o tempo e com os novos costumes. Para um refinado intelectual como ele, deve ser difícil entender a neurose das suas relações amorosas, baseadas numa contradição insolúvel: amante de mulheres casadas e atrizes tarimbadas na cama, afligia-se, ao nível de paranóia, por ter havido outro homem, primeiro do que ele. Daí, a sua eterna insatisfação sexual, sublimada em peças de diálogo vivo, cortante, cheio de brilho, que faz toda a
Segundo o historiador, o burguês não foi tão canalha como se pensa, não tão indiferente às classes pobres como se imagina, nem tão fútil como foi caricaturado
Revista Literal 57
-Bretanha sob o imenso império, onde o sol nunca se punha, da rainha Vitória. Até porque não focaliza, apenas, os que viveram na Inglaterra e nas suas imensas colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Pode servir para a sua pesquisa, por exemplo, o diário de um pastor nos Estados Unidos, a experiência política e lutas radicais na França, e até mesmo o mimo do primeiro-ministro da rainha Vitória, Gladstone, que, com delicadeza, apertava os seios da mulher para que ela melhor pudesse amamentar o filho. Os vitorianos de Gay são, talvez, exageradamente amplos, incluindo pessoas que se tornaram milionários como J.P. Morgan, com a ressalva de que ele legou para o povo tanto uma biblioteca de primeira quanto uma pinacoteca de igual qualidade. Também incluiu outro miliardário, Andrew Carnegie, que destinou fortunas para a cultura. Não deixa, porém, de lado verdadeiros representantes da classe média, clérigos, médicos, educadores, estudiosos da sexualidade e
Gay trabalha com documentos e é apaixonado por diários e cartas de pessoas anônimas, principalmente aquelas em que casais não disfarçam seus ardentes desejos sexuais diferença entre a leveza vienense e a profundidade de crepúsculo do teatro berlinense. Com os dilemas amorosos levados ao palco com tanta habilidade, não foi à toa que Freud gostou tanto desse neurótico sexual. O escritor Schnitzler, na verdade, tem papel secundário na história descrita por Peter Gay. O que ele deseja explicar e convencer são as grandezas, os dramas e as tensões da classe média vitoriana. O que ele denomina como tal é muito mais abrangente do que a qualificação dos súditos que viveram na Grã58 Revista Literal
jornalistas que sob as mais variadas pressões em suas atividades deixaram no século vitoriano – de 1815 a 1914 – pedaços de generosidade e progresso. Não custa nada lembrar – Gay não esquece – que o maior libelo no século XIX sobre os direitos das mulheres foi escrito pelo filósofo utilitarista John Suart Mill, junto com sua mulher, cujo nome Gay, não se sabe o porquê, omitiu quando cita o famoso texto escrito pelos dois. Na verdade, o que o historiador pretende explicar – é sua tese ao longo deste e dos outros livros publicados sobre a burguesia – é
que o burguês não foi tão canalha como se pensa, não tão indiferente às classes pobres como se imagina, nem tão fútil como foi caricaturado, nem tão assexuado como supõem ter sido a frieza de suas alcovas, nem ainda tão hipócrita e insensível como tornou-se comum defini-lo em um clichê indestrutível e implacável. Muito desta visão, sustenta Gay, veio de alguns intelectuais. O principal, a quem Gay não oferece um palmo de desculpa, foi o escritor francês Gustave Flaubert, que costumava auto-nome-
Gay trabalha com documentos e é apaixonado por diários e cartas de pessoas anônimas, principalmente aquelas em que casais não disfarçam seus ardentes desejos sexuais. Numa carta que o delicia, uma mulher escreve ao marido em viagem que “os lençóis não estavam lavados, minha roupa de baixo não está limpa, assim não terás tentações”. É claro que Gay considera que a tentação seria maior e mais intensa. É pena que a documentação, cartas e diários, seja rala para se considerar que a
ar-se em latim “Gustavus Flaubert, bourgeosophobus”. Fobia por qualquer tipo de burguês. Escreveu numa carta a George Sand: “Axioma: o ódio ao burguês é o começo de toda a virtude”. Só em pensar nesta frase, Gay destila bastante rancor contra o autor de Madame Bovary. Por outro lado, o elogio ao burguês feito pelo poeta Charles Baudelaire é bem aceito, tanto quanto o entrecho do Manifesto Comunista escrito por Marx e Engels é considerado tão elegíaco por aprovar a épica transformadora do capitalismo. É óbvio que o historiador reconhece as limitações da classe média, revela suas hipocrisias, seu temor a rebaixar-se ao padrão do operariado e ao medo que tal classe poderia ocasionar em suas eventuais revoltas, abalando a paz do seu lar tanto quanto a segurança de seus empregos – afora a exclusiva mania em descalçar as ruas para formar barricadas. Não só atrapalhava o trânsito. Podia liquidar o estilo de vida burguês. O ódio de Flaubert aos amotinados da Comuna de Paris, de 1871, chega a ser mais truculento que o devotado aos seus insípidos burgueses.
maioria dos vitorianos tivesse sua sexualidade mais acesa que suas lareiras. A classe média é para Gay aquela que viveu a mais radical das tensões do século XIX. Ao mesmo tempo que muitos eram conservadores, outros batalhavam para revoluções estéticas aderindo, comprando e promovendo obras de vanguarda, como as do impressionismo. Para o historiador, mais que o proletariado, foi a classe média a mais inovadora das categorias sociais do século XIX, debruçando-se tanto em longos e complexos estudos sobre a sexualidade quanto sobre solucionar a miséria dos pobres. Gay escreve, por exemplo, “como historiador, hesito em fazer comparações invejosas, mas tendo em vista o século que sucedeu a XIX, somente posso reiterar que considero a era vitoriana um século admirável e que grande parte do crédito deve ser dado à burguesia”. Mais radical, poderia ter bradado: “Classe média de todos os países, uni-vos!” •
Para o historiador, mais que o proletariado, foi a classe média a mais inovadora das categorias sociais do século XIX
Wilson Coutinho é crítico de arte e literatura.
Revista Literal 59
Célebres são os livros Rubens Figueiredo diz que, ao contrário da tendência atual de fazer do livro base de sustenção para celebridades, o escritor é o que menos importa na literatura, e relativiza o caráter inovador dos blogs. Por João Paulo Cuenca Publicado originalmente em julho de 2003
Autor de oito livros – sendo dois vencedores de Prêmios Jabuti e um do Prêmio Portugal Telecom – além de tradutor e professor de um colégio público no Rio de Janeiro, Rubens Figueiredo vem se firmando como um dos melhores escritores brasileiros contemporâneos. Depois de lançar seu belo romance Barco a seco (Companhia das Letras) em 2001, Rubens continou a escrever contos em seu ritmo “muito devagar” e passou a se dedicar a traduções de escritores russos como Tchekhov e Turguêniev para a editora Cosac Naify. Nesta entrevista, ele fala da sua forma de escrever, das novas tentativas de se fazer ficção, em especial na internet, e do engano predominante hoje de se transformar o autor em algo mais importante do que a literatura. “Ele é o que há de menos importante. É um transtorno”, afirma. Como estão as traduções de autores russos para a Cosac Naify? Rubens Figueiredo. O livro de contos de Tchekhov já saiu [O assassinato e outras histórias, 2003]… Depois peguei um certo ritmo e eles pediram uma peça, uma tradução de A gaivota, que já foi feita também, e agora estou terminando uma tradução de um romance do Turguêniev, Pais e filhos. Este romance já tem uma tradução no Brasil, mas é muito antiga, tem uns 50 anos, e é um pouco incompleta. 60 Revista Literal
E há alguma coisa sua sob produção? Há vários anos eu escrevo contos. Não escrevo livros, escrevo contos. E é isso que estou fazendo agora, mas muito devagar. Barco a seco foi um conto acidentado, porque era o material para um conto e passou a abrigar outros materiais… Você escreve contos grandes… Sim, meus contos tendem a ser um pouco esticados… No caso do romance, não foi tanto o conto que cresceu, mas sim materiais que começaram a se agregar em torno do núcleo do conto e se avolumaram. Então por uns momentos eu tive de apostar um pouco que daria um romance. É meio chato porque pode não dar certo e, como eu escrevo meio devagar, corro o risco de ficar dois anos, três até, trabalhando à toa. À toa nunca é, não? Já fiquei três anos fazendo um livro e não deu certo.
Mas quem disse que não deu certo? Eu… Eu e mais uma pessoa. Era mais ou menos óbvio. E ocorre que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não poderia estar trabalhando em um romance e fazer um conto aqui e outro ali, não consigo. Escrevo um de cada vez, não começo nada sem ter acaba-
do o anterior. Meu palpite é que esse romance (Barco a seco) é uma espécie de romance de contista, pela própria estrutura. Induz a gente a visualizar um aglomerado de contos, os capítulos são até razoavelmente curtos, não é aquele tipo de romance mais caudaloso, fluente, é uma narrativa entrecortada…
amos vendo a situação dessa mesma maneira. Estaríamos vendo vários blocos que não se casam. O que ocorre é que a gente olha o passado com a perspectiva das décadas, então a gente só vê aquilo que é mais saliente. É fácil compor um todo coerente. Mas é só uma parte. E o que a gente vê hoje é o todo, sem o filtro do tempo.
Você também é um dos editores da revista Ficções, da editora 7letras… Sim, o Jorge Viveiros de Castro, da editora, e o Carlito Azevedo criaram a revista e me convidaram para ajudar, com outras pessoas, e venho ajudando, na medida do possível.
Eu não diria que é um todo inconsistente. São tentativas, como sempre se fez, estão buscando um rumo, se vinculando a uma tradição ou outra. Há muitas tradições ativas em termos de prosa de ficção e as pessoas tentam se filiar ou se desfiliar de alguma delas, experimentam….
“A rigor eu não tenho porque dar uma entrevista. A única coisa que interessa aqui são os livros que eu eventualmente fiz”
Nesse trabalho você tem contato com muito material inédito que é enviado pra editora… Sim, a Ficções é um espaço muito disponível a todo tipo de proposta. Parece ser uma revista amadorística por opção. Então ela acolhe um pouco de tudo. Muitas vezes, a gente nem sabe quem é o autor ou de onde veio. É uma maneira de se ter contato com as coisas que estão sendo escritas.
E como escritor e estudioso de literatura, você identifica algo em comum nessa coisa que estão chamando de “novíssima literatura”? Ou você acha que são iniciativas totalmente autônomas que não se cruzam em lugar algum? Acho que se cruzam sim, há coisas em comum, mas não se apresentam de forma homogênea. É um saco de gatos, então? Não há uma identidade consistente ou coerência entre esses textos? Acho que sempre foi assim. Acho que se a gente estivesse vivendo em uma outra época, estarí-
Você lê blog, já leu? Muito pouco. Já dei uma olhada.
Você acha que é positiva essa onda toda de páginas pessoais e blogs? Não faz mal nenhum.
Mas será que essa gente não deveria estar lendo ou produzindo livros? Não… Não tinham que estar fazendo nada. Têm que fazer o que gostam. (risos) Porque elas estão deixando de ler livros, não? Talvez nunca lessem…
Isso não é preocupante para quem quer lançar livro? Talvez… Mas veja bem. As pessoas podem se apresentar sob outras identidades na internet. Mas isso não é uma invenção desta época. Sempre houve pseudônimos, cartas anônimas, trote no telefone etc. Revista Literal 61
Sim, mas essa mídia não é mais imediata e abrangente do que qualquer outra? É, eu acho que sim. Você diz que o blog seria um tipo de escrita criativa, divulgada imediatamente, sem nenhum tipo de filtro que não seja o próprio autor. Mas se você observar livros de outras épocas, vai ver como não era incomum o próprio autor publicar seu livro, como acontece ainda hoje. Há autores importantes que publicaram seus próprios livros, não submeteram sua obra à leitura de ninguém. Então, veja, isso também não é o problema. Quanto à rapidez… Eu não acho que isso seja importante.
Você acha que não influi? Acho que não influi. A literatura, seja no blog ou onde for, é feita com a linguagem verbal. E a linguagem não é um instrumento, não é uma ferramenta. Ela é como se fosse uma parte do nosso corpo, como se fosse o pulmão, a mão… Às vezes as pessoas falam de computador como se ele produzisse alguma coisa. Mas isso não é apenas antropomorfismo? Ele é uma coisa secundária, como a tipografia, os tipos de chumbo. O que importa é a linguagem. Então, veja só, falei que a língua é como se fosse uma parte do corpo… O sujeito é habilidoso com as mãos, é costureiro ou digitador, sei lá. Um outro é habilidoso com os pés. A gente também desenvolve uma habilidade de lidar com as palavras. Inventa e explora essa habilidade, com o exercício e com o gosto de fazer. Se vai ser no computador ou no lápis ou em algumas fichas, acho que não é muito importante. Se vai ter leitor, muitos ou poucos, se a leitura será imediata ou só daqui a 50 anos, para mim não é importante. Deve ser importante para outras pessoas, certamente existe uma esfera em que isso pesa, mas não vejo por que deva ser a prioridade para todos. Então o que importa? Muitas pessoas escrevem para alguns mortos, para um grupo pequeno de pessoas. E você, escreve para alguém? Olha, isso aí é meio complicado. A gente se meteu nisso porque gosta de ler. Há alguma coisa 62 Revista Literal
na literatura que se tornou importante para nós. Então isso é o que vale. No curso da vida e da sociedade, esse gosto se mistura, necessariamente, com vontades e interesses que são alheios a essa origem. Mas são inevitáveis também, não há como se desviar disso…
Por exemplo? Por exemplo, você está aqui fazendo uma entrevista comigo. Isto aqui não tem nada a ver. A rigor eu não tenho porque dar uma entrevista (risos). A única coisa que interessa aqui não sou eu, e sim os livros que eu eventualmente fiz.
Então nós estamos falando aqui sobre livros, não? Sim, mas o que ocorre: da maneira como que costumamos tratar as coisas, tendemos a transformar o livro numa espécie de base para sustentar uma celebridade. A lógica da nossa sociedade depende muito dessa instituição que é o indivíduo de sucesso, e isso é uma deformação gritante, em face da experiência que a gente tem quando lê. Gostamos de ler porque descobrimos ali alguma coisa importante e verdadeira da vida. Isso não tem nada a ver com a pessoa pública do autor. Mas o escritor não funciona muitas vezes como um intérprete das emoções alheias? As pessoas muitas vezes idolatram escritores por dizerem coisas que elas não conseguem formular… Sim, mas na verdade isso acontece por puro acidente…. Olha, eu entendo, o talento é uma coisa frágil, precisa de estímulo. Mas o que ocorre é que essa lógica funciona de tal modo que esse estímulo, essa celebridade, começa a funcionar de uma forma independente daquilo que deveria ser a sua razão de ser, ou seja, o livro. Não importa mais o livro, importa a pessoa que os assina. Você diz que as pessoas gostam porque leram e admiram a pessoa que permitiu ter essa experiência de ler. Muito bem, isso é a tese. O que se observa na prática é que as pessoas não leram e admiram o fato de o sujeito ter dado uma entrevista.
Divulgação
Leram a entrevista… Ou nem isso leram. Não precisam. Trata-se de valores tão autoritários que a pessoa não tem espaço para julgar, para avaliar, para participar daquilo de alguma forma. Alguns participam, lêem o livro, têm uma experiência pessoal. Mas esse espaço é cada vez mais reduzido e as pessoas ratificam isso por meio da imagem do escritor. Por isso acho que o escritor é o que há de menos importante em todo o processo da literatura, em toda a experiência… Ele é um transtorno (risos). É um mal necessário? É mesmo.
Por exemplo, à medida que as pessoas admiram um escritor, elas querem saber o que ele leu, qual o caminho que ele trilhou até ali… Supondo que isso possa ter alguma relação com o que ele escreveu. Alguma relação com a experiência que elas tiveram ao ler o livro. E isso é sofisma, porque essa experiência é pessoal, é algo de que a pessoa participa tanto
quanto o livro, de tal modo que, se ela mesma ler esse mesmo livro daqui a dez anos, terá uma outra experiência.
Se o livro for bom… Se for bom ou não. O fato é que será uma outra experiência, o leitor tem uma parcela tão grande de importância quanto o próprio livro. E, em tudo isso, o que pesa menos é o escritor, porque, ao escrever o livro, ele quis alguma coisa, imaginou uma forma, vislumbrou um horizonte de perfeição, procurou aquilo e no fim sempre fracassa. Ele nunca consegue realizar aquilo.
Ele sempre fracassa? Sempre. Às vezes o troço fica muito bom à revelia dele… Às vezes o sujeito é um racista e escreve um livro extremamente crítico sobre esse tipo de mentalidade. Às vezes ele é um religioso e escreve um livro que é um problema sério para qualquer fé… E por quê? Porque ele não é importante. As convicções, o plano desse escritor, serão importantes como uma fonte de Revista Literal 63
atrito para o que ele está fazendo. Um problema dentro do que ele está fazendo.
Mas de certa forma você é um produto, não? Quando você escreve o livro, você é um escritor. A partir do momento que ele começa a ser publicado, você autografa e dá entrevistas, trabalha como vendedor também. A sua figura faz parte disso. Sim, eu conheci autores que são verdadeiros publicitários de si mesmos, eles vivem em campanha. Eu francamente acho isso uma tristeza. Tenho a firme convicção que escrevo porque gosto de ler. Eu li quando era garoto, tive uma experiência importante com isso, quero dividir isso com outras pessoas, tento me manter ligado com a literatura. Não chega?
Quantos anos você tinha começou a escrever? Eu cismei de escrever bem cedo, era adolescente. Mas demorei porque achava que não tinha jeito. Comecei mesmo aos 22 anos, passados os 22 anos. E é engraçado porque fiquei dos 22 anos aos 24 anos fazendo um romance… A primeira coisa que escrevi foi um romance. Toda noite eu chegava em casa e trabalhava nele. Nessa ocasião eu trabalhava numa editora. Acabou saindo cinco anos depois. Demorou mais tempo para ser publicado do que para ser escrito. Você já dava aulas naquela época? Sim, àquela altura eu já era professor de dois colégios. Do Colégio Militar e do colégio em que eu dou aula ainda, na rede estadual, à noite. Do Colégio Militar, eu saí uns anos depois.
Você tem alguma disciplina pra escrever? As horas do meu dia são muito contadas, pela necessidade de trabalhar e cumprir as minhas obrigações. Escrevo em horas que consigo arrancar durante a semana. Sempre foi assim. Eu tenho que brigar com os dias para conseguir 64 Revista Literal
escrever. Em função disso sempre fui um pouco metódico sim, às vezes faço uma espécie de quadro com os horários da semana e reservo uma nesga de tempo pra escrever. Eu preciso ser metódico… Sem isso eu acabaria, sem dúvida, não fazendo nada.
Mas escrever não é um processo restrito ao computador ou à máquina de escrever, certo? A gente não pára de pensar, de olhar as coisas que acontecem. Analisamos a realidade por uma espécie de filtro que seleciona o que pode ser utilizado para a nossa escrita. Mas não é o tempo todo assim. Às vezes você está mais ligado. Mas acho que isso ainda não é escrever. Na minha maneira de ver, o ato de escrever mesmo supõe necessariamente uma espécie de trato físico com as palavras. É claro que você pode ditar um livro para um gravador ou um computador, mas mesmo nesse caso o ditado supõe a escrita.
Você tem um distanciamento com o que você escreve? Ou é um processo agressivo? Existe essa agressividade, essa briga. No meu caso é até surpreendente. À medida que eu encontro a resistência, na distância entre aquilo a que quero chegar e aquilo que estou conseguindo, sinto que vou ganhando uma espécie de agressividade e aí, realmente, o efeito tende a ser melhor. Afinal, você está pensando em quem quando você escreve? Em satisfazer o seu próprio gosto, um grupo de pessoas, num grande público? Ou não pensa em nada disso? O foco mais constante de preocupação quando estou escrevendo é o que estou escrevendo. Ou seja, que aquela frase, aquele parágrafo esteja convincente, tenha força, se justifique, enfim. Eventualmente imagino alguém lendo, mas é um pensamento subsidiário para socorrer esse critério inicial: que o texto se justifique, que acrescente alguma coisa. Traduzi uma
vez para a Inimigo Rumor, juntamente com o Carlito Azevedo, um texto de um poeta russo, Óssip Mandelstam. Ele fala do leitor. Diz que não é que não exista o leitor. Ele existe mas a gente não sabe quem é. Menciona aquela imagem clássica do náufrago numa ilha deserta que joga no mar uma mensagem numa garrafa. Você não está escrevendo aquela mensagem para o mar, está escrevendo para alguém, só que você não sabe quem é. E não convém saber quem é, não é pertinente. Aí já seria uma espécie de prepotência. Já é aquela interferência perniciosa do marketing: “o leitor não quer ler isso”. Você manda no leitor? O pior é o que leitor acaba obedecendo.
E a sua relação com a crítica? No início eu lia um comentário sobre o meu livro e parecia que não era o meu livro… Mas logo vi que era assim mesmo, porque o livro que se quer escrever simplesmente não existe. Ele tem uma dinâmica peculiar e não está sob o meu domínio, nunca esteve. É aquilo que eu te disse antes: qual é o peso do escritor? Não vou dizer que não se possa discutir com a crítica. Mas há uma esfera de instabilidade muito grande na experiência de ler um livro, e é inútil o autor querer controlar seus leitores. O que você está lendo agora? Em função dessa minha atividade de tradutor ter se concentrado mais em russo de um ano e meio para cá… Até acho engraçado porque foi a minha formação na universidde foi essa, literatura russa, e eu larguei, por 16 anos não toquei nessas coisas, nos meus livros e dicionários. E agora voltou e eu não faço outra coisa senão ler literatura russa. Como estou traduzindo um romance e uma novela do Turguêniev, tenho lido outras coisas dele. Além disso estou escrevendo um prefácio e um artigo sobre escritores russos. Então, é muito engraçado porque, de repente, sem querer, virei um tipo de especialista e, ao mesmo tempo, um iniciante•
Rubens Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro, em 1956. Formado em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é escritor, tradutor e professor de português e tradução literária. Um dos principais tradutores da língua russa no Brasil, recebeu em 2010 o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional pela tradução de Ressurreição (Cosac Naify), de Tolstói. Em 2011, venceu o Prêmio São Paulo Literatura pelo romance Passageiro do fim do dia (Companhia das Letras, 2010). Tem traduzido para a Cosac Naify, diretamente do russo obras como Guerra e paz, de Tolstói, O nariz e Avenida Niévski, de Gogol, e Oblomóv, de Gontcharóv. (BD)
Revista Literal 65
Descontrole remoto Em Armando Freitas Filho, a investigação metalingüística, herdada a partir das vanguardas dos anos 1950/1960, não deu lugar a uma postura eufórica em relação à autonomia da linguagem. Por Fabio Weintraub Publicado originalmente em janeiro de 2004
Quem quer que tenha visto o poeta Armando Freitas Filho recitar seus versos em público, já assistiu a uma cena algo insólita. Em silêncio, o poeta retira do bolso um gravador e, apertando o botão “play”, aproxima-o do microfone. A voz do autor, cuja gagueira é célebre, sai da máquina depurada de espasmos, sem nódoa acústica a ouvido nu. O fato torna-se ainda mais curioso em se tratando de alguém que abraça o ideal de uma escrita a galope, de uma poesia que almeja reproduzir o vivido “sem tempo de ensaio ou sonho/ de passar a limpo os sucessivos rascunhos/ sob a carga do que se move”, como se pode ler no segundo poema de Números anônimos (1994). Por que, então, uma poesia que enaltece a desordem vem a público do modo mais disciplinado, através de uma gravação na qual tudo foi previamente disposto? Por que deitar freios no cavalo da elocução? Faço essa pergunta a propósito do lançamento de Máquina de escrever (Nova Fronteira), volume que recolhe toda a obra de Armando, de Palavra (1963) a Fio terra (2000), acrescida de um livro novo, intitulado Numeral/Nominal. A expressão escolhida como título para 40 anos de atividade põe a nu certos paradoxos ligados à mediação da experiência vital pelo corpo e pela linguagem. Não é o caso de acompanhar aqui toda a trajetória do autor, as mudanças operadas de um livro a outro, o caráter abstrato e metalingüístico dos livros iniciais (bastante marcados pelo contato com a poesia práxis); o diálogo 66 Revista Literal
agônico com João Cabral (de quem assimila certos procedimentos, com orientação subjetiva contrária); a abertura progressiva ao corpo e à experiência erótica; os poemas políticos; as afinidades eletivas com outras obras e autores… Tudo isso (e muito mais) está exposto, com uma clareza bem maior do que aquela de que eu seria capaz, no belo ensaio que abre o volume – “Objeto urgente”, feito pela crítica Viviana Bosi. Gostaria, no entanto, de pontuar alguns elementos que retornam obsessivamente, tendo em vista sobretudo o motivo da máquina, as imagens do corpo, do corpo-máquina (operando a todo vapor, na iminência da pane), a fim de melhor compreender a relação entre controle e desordem que está na base dessa poética. Em primeiro lugar, podemos pensar no motivo do telefone, que aparece em vários poemas do autor. Segundo Maria Rita Kehl, a imagem do telefone, esse objeto que toca incessantemente sem que ninguém responda ao seu chamado, remete a um tipo de desejo aflito, que tanto mais se aguça quanto menos se sacia. Escreve Armando: [...] Desespero. Sou um ser telefônico sem aceleração. Estou a seco. A ferros. Você está por um fio e só ouve o outro lado. Contra a pele do coração
Tomรกs Rangel
Revista Literal 67
que se detém nos dentes, e não sobe aos olhos, atrás dos óculos de sol (“Retrato no telefone”, livro Fio terra, 2000)
qualquer palavra é pedra pisa e fica martelando encravada, sem se passar a limpo num fundo de carne nua sem alma nenhuma dentro dessa caixa-preta (“Em forma de telefone”, livro De cor, 1988)
O fio aqui não realiza o encontro e nem permite propriamente a descarga do que no coração se encravou. A menção à caixa-preta evoca ainda os dispositivos presentes em aeronaves, um tipo de memória ultrablindada especialmente útil em caso de desastre. Vejamos outro exemplo: Beijo sua voz no bocal preto. Do outro lado da linha, no espaço em branco, no escuro, nua sem batom, cor de carne, o fio o dispositivo do riso que se retira: sorriso, sussurro, espécie de soluço
68 Revista Literal
O que se observa é uma situação de paralisia, a voz que não sobe da boca ao olhar encoberto. Assim, a mediação da máquina, ao contrário do que sugeria a descrição inicial do poeta com o gravador, enseja uma comunicação imperfeita, falhada, sensível à opacidade do corpo. Da mesma forma, um título como Fio terra revela essa erotização dos aparelhos ao designar tanto o fio neutro de uma instalação elétrica (que protege a máquina do curto, aterrando o excesso de tensão) quanto, no âmbito da gíria, a prática da sodomia, abordada nos poemas “Prega-rainha” (de Duplo cego) e “Prega-rainha suíte” (do próprio Fio terra). Outros exemplos de como o corpo subverte a ordem maquínica podem ser colhidos na poesia de Armando. Penso nas metáforas automobilísticas, por exemplo, na referência reiterada a motores e à aceleração da experiência diante da escrita (o velocímetro da vida contra o breque da representação). O corpo pode ser “relógio-bomba/ que quanto mais se gasta mais se carrega” (p. 586), “vagão/ de sangue correndo sobre/ os trilhos dos ossos”, “motor arregaçado e despido”sob a “película acelerada da cidade” Sem falar nos versos de pé quebrado, fazendo “ligação direta” para alçar vôo (p. 516). Insisto nesse cruzamento entre corpo e máquina não apenas em função do título Máquina de escrever, mas porque penso que ele subsume conflitos que atravessam boa parte da produção de Freitas Filho. A distância existente entre “sensação e sentido”, “ensaio e representação”, o embate entre estátua e espírito; a consciência antimetafísica da morte que se aproxima (“Ouso sentir, sem segurança/ o que o corpo não utiliza/ a não ser na morte”, p. 44); tudo isso reaparece na presente discussão. A máquina ora se associa aos anseios de controle, precisão e racionalidade, registrando “o tremor sem tremer” (p. 64), ora assume a impureza das sensações e opera “fora de re-
gistro”. O corpo é “no escuro,/ traidor, sujo de Judas/ prestes a ratear”; mas é também uma engrenagem comovida, com dentes agudos a morder nossa inteligência das coisas. Seria importante mostrar as vicissitudes na formalização dessas questões ao longo da obra em apreço, bem como falar da maneira pela qual, por meio delas, Armando dialoga com a tradição (sobretudo Cabral, para sempre pai amado e repelido, Drummond e Gullar). Prefiro, porém, dada a falta de tempo, dirigir o foco para o livro mais recente da coletânea (Numeral/Nominal) a fim de perceber como essas contradições ressurgem no estágio atual da poética “armandiana”.
Dínamo negativo com interruptor travado em ré funcionando dentro – dentes ao contrário: grito! Ao revés. Máquina que não irradia, só concentra, acumula como quem porta fechada na mão, a carga, e carrega o berro contra a família [...]
De imediato, chama a atenção, na estrutura do livro, a divisão dos poemas em duas seções: “Numeral” e “Nominal” (ecoando, em contexto diverso, o título de um outro livro, Números anônimos). A primeira parte é composta por uma série de poemas, a maioria de pequena extensão, todos sem título, numerados em série. A segunda parte tem poemas mais espraiados, alguns deles agrupados em pequenos núcleos temáticos (como, por exemplo, a série sobre fotografias ou a seqüência dedicada a Carlos Drummond de Andrade). Durante a leitura de “Numeral”, é difícil não pensar na enumeração como um recurso para organizar a matéria caótica do viver, ainda que, desde a epígrafe (“Enumero. A convidada enumera como num matadouro” – Ana Cristina César), tal artifício cognitivo (e a sensação de controle imaginário que dele decorre) seja mobilizado numa situação extrema (“como num matadouro”). A escrita quer registrar apenas “o câmbio macio ou brusco do pensamento/ trocando de marcha e de plano”, mas o corpo “não pára de sentir” feito
escapa à enumeração – “não o animal exato/ mas a ameaça correspondente”. Ou ainda: “a impressão primal da presença/ pouco antes da cor do corpo, do alfabeto”. Em outros momentos essas manobras de defesa vão ser inteiramente metaforizadas pelas diferentes etapas da escrita: primeiro à mão, depois à máquina mecânica, percutida com fúria, e por último no computador, onde é possível apagar “absolutamente o erro, errar”. O que, de resto, confirma as declarações do poeta quanto ao fato de os instrumentos e suportes da escrita a condicionarem forçosamente: Como esse pedaço de papel não tem “estatuto” nenhum [...], o poema se fixa nesse lugar instável, trêmulo. Quando se fixa através da escrita, primeiro à mão, depois à máquina de escrever mecânica, e, agora, (estágio recente) na tela do computador, traz na sua composição essa incerteza. Aliás, com o advento do computador, o ciclo da criação se fecha, pois parece que volto ao começo de tudo, já que escrever nele é como escrever na água do pensamento, quando tudo pode ser, de repente, apaga-
A ferocidade das armas é diretamente proporcional à intensidade dos afetos que se pretende dominar. À medida que o tempo passa e se estreita o campo de ação do sujeito, cresce a atenção para os perigos virtuais, para o que
Durante a leitura de “Numeral”, é difícil não pensar na enumeração como um recurso para organizar a matéria caótica do viver
Revista Literal 69
do, reformado, absolvido, sem deixar marcas, apenas o leve incômodo ou remorso de alguma coisa que se perdeu para sempre. Claro que o aproveitamento poético de uma tal idéia – sobre, digamos, o impacto subjetivo dessas “tecnologias da escrita” – encontra antecedentes na poesia brasileira do século XX. Basta lembrar de Mário de Andrade, às voltas com a sua Remington, espantado diante do “eco mecânico de sentimentos rápidos”. Julgo todavia que o trabalho de Armando conduz a consciência desses fenômenos de “animização” dos instrumentos (e de “objetivação” dos afetos, já que a via é de mão dupla) a um tipo de paroxismo. Ademais, a percepção da escrita como virtualidade tensa, zona de liberdade e risco, recebe aqui tratamento singular. Assim, não por acaso a segunda parte do livro novo chama-se “Nominal”, designando, entre outras coisas, o que se opõe ao real, o que existe apenas em nome. Ela se abre com o poema “Altavista”, nome de um site de busca na Internet que permite justamente Dar a ver sem ter à vista e à mão, a coisa em si, com sua tensão e tessitura.
Após esse pequeno intróito, o poema oferece uma série de objetos-exemplo que, por deslizamento metonímico, dão também a ver o que eles não alcançam: um porta-chapéus vazio que apanha o pensamento das cabeças antes cobertas, um porta-garrafas que evoca as bocas abertas sobre os gargalos, um faqueiro da Tok Stok guardião dos crimes e das fomes que incendeiam o fio das facas. A poesia vista como campo privilegiado para tais deslocamentos, máquina de sentido que nos faz remontar do nome ao desejo. Nesse sentido, é 70 Revista Literal
também especialmente feliz a alusão às facas, imagem central na poética cabralina, apropriada por Armando com intenção diversa, sem eclipse do sujeito. Nos poemas seguintes, podem-se acompanhar outros deslizamentos dessa natureza: reflexões sobre o lugar da leitura, sobre os limites e sofrimentos da escrita e do corpo. Corpo cujas forças declinam e que já não consegue tirar partido da dor. Leia-se: Se dor não há para aguçar o corpo por que a dormência não chega para neutralizá-lo?
Corpo divorciado da cara: “A cara como que entrou primeiro que o corpo, pelo quarto adentro”. Ela, puro afeto agramatical; ele, todo linguagem, mas anônimo, irreconhecível. Enfim, corpo prensado pelas sensações, solitário contra um fundo infinito, sem espaço para fuga ou recuo. Haveria ainda muitas outras coisas a observar numa obra erigida sob arco histórico tão vasto. Encerro, no entanto, com a constatação de que, em Armando, a investigação metalingüística, herdada a partir das vanguardas dos anos 1950/1960, não deu lugar a uma postura eufórica em relação à autonomia da linguagem, nem resvalou para uma espécie de niilismo pós-utópico (como sucedeu a muitos de seus contemporâneos). Sem medo do descontrole, lápis nos botões da carne, Armando seguiu escrevendo, atento à distância entre a voz e a gravação, avançando “impacífico” para frente, parafuso, para o fim• Fabio Weintraub é editor e poeta, autor de Novo endereço (Prêmio Casa de las Américas, 2003).
Revista Literal 71
A tentação da autonomia Victor Burton apresenta os dilemas do design gráfico que surgem com a democratização trazida pelos novos softwares. Por Victor Burton Publicado originalmente em julho de 2004
Presenciamos hoje uma aparente “democratização” do design gráfico. Os recursos eletrônicos são acessíveis a qualquer proprietário de um computador: nenhuma habilidade manual ou talento artesanal específico é necessário. A geração atual de designers não precisa mais saber desenhar uma letra, representar um lay-out, simular uma ilustração. O saber necessário à confecção de um folheto é acessível a qualquer pessoa familiarizada com um computador e com a paciência de aprender a usar um software específico. Este talvez seja um dos motivos pelos quais o design, para preservar seu monopólio do projeto da comunicação, tenha desejado em algums casos se transformar em algo mais, comunicando menos, de forma mais complexa, mais codificada, colocando um filtro cultural entre ele e o espectador. Esta nova ambição só foi possível ou provocada pelo advento do computador, pelo aparente poder total que este confere ao designer. É possível dizer que ele proporcionou uma revolução no próprio paradigma do design, conferindo a ele a tentação ou a ilusão de um novo status. A partir de duas ou várias fontes pré-existentes é hoje possível formar uma terceira, nova 72 Revista Literal
(?) imagem. A atitude pós-moderna permite e avaliza a apropriação como citação, referência, clin-d’oeil. Assistimos muitas vezes à confecção de um “original” feito de cadáveres roubados, lembrando um pouco os cadavres exquis, os exercícios de criação automática dos surrealistas. Mas o collage tradicional deixava sempre de alguma forma claras as camadas originais, as pistas do caminho empreendido para chegar a uma nova imagem. O que o computador permite é a anulação total das provas da apropriação. Além, é claro, de possibilitar a produção de imagens totalmente endógenas. As câmeras digitais permitem cada vez mais a produção de imagens sem mediador (fotógrafo). O scanner permite a captura de objetos inteiros, texturas, panos, até mesmo partes do corpo. O designer pode criar fontes novas, totalmente, ou por clonagem e canibalismo. Ele pode alterar a tipografia, distorcer, corromper, torná-la enfim “expressiva”, dotá-la cada vez mais de uma “fala” própria, que vai além da mera comunicação. Desta e de inúmeras outras formas presenciamos a possibilidade do designer dominar e centralizar o que antes estava fora de seu alcance. O designer torna-se então, cada vez mais, um produtor completo e autônomo de linguagem.
Em uma atmosfera de autonomização radical das artes plásticas que pode passar uma idéia de esgotamento ou até mesmo, como adiantou Argan, de fim da arte como estávamos acostumados a conhecê-la, o design gráfico parece constituir um campo de produção de imagens novas, capazes até mesmo de substituir a arte. Assistimos em várias manifestações a um nítido desejo de upgrade, a busca de um novo status por parte do designer, cada vez mais próximo do artista e de sua autonomia. O grande exemplo desta tendência foi o discurso à la David Carson, discurso já precocemente démodé, mas que permeia ainda muito da atual criação gráfica: a necessidade de um design que “dificulta” sua própria comunicação para intensificar a qualidade da atenção do espectador visando provocar uma intensidade e uma co-participação nova representa de forma exasperada a tendência de conferir cada vez mais autonomia ao design, um design conscientemente não-prático, que inverte a relação forma/função, forma/conteúdo. O design não quer mais ser um simples veículo de comunicação e sim o assunto em si. A forma é o conteúdo. O design pretende cada vez mais falar dele mesmo: ele é a mensagem. Segundo David Byrne, o trabalho de Carson pode ser considerado o mais acabado exemplo da teoria de McLuhan, segundo a qual, “quando um meio de comunicação sobrevive à sua relevância, ele se transforma numa obra de arte. Livros, revistas e jornais se tornarão ícones, esculturas, texturas serão um meio de comunicação de uma ordem diferente, e a simples transferência de informação será efetuada por algum ou-
tro meio (eletrônico). A impressão não mais será obrigada a simplesmente carregar as notícias: lhe terá sido outorgada (ou ela terá conquistado) sua liberdade”. Esta mesma situação já pôde ser observada em outro fin de siècle: o fim do século XIX. A Viena fin de siècle, com o movimento Secession, quando a arte se torna decorativa e a decoração se transforma em arte, com o aparente esgotamento e repetitividade da arte acadêmica e o fortalecimento das “artes aplicadas”, como era então chamado o que hoje denominamos design (o próprio termo, aliás, é revelador). A arte exauriu-se então no academicismo, na citação dos estilos, já prefigurando a característica principal da crise pós-moderna. A vitalidade da criação aparentemente passou para a decoração, os objetos do cotidiano, para a forma. E esta forma, estas funções, estes copos e livros pareceram carregar mais do que a arte reconhecida, l’air du temps, a ânsia do novo, da representação do mundo. O nosso air du temps seria a desistência final da Arte em sua missão de representar o mundo pela compulsão de se representar a si mesma. Mas como o design poderá se substituir então ao desejo do nada? em qual vertigem de uma fala sem objeto, de uma moldura sem obra? Talvez esta será, neste fim de século que se arrasta, (assim como o século XIX só terminou em 1918 com o fim da primeira guerra mundial) a missão involuntária do design: ilustrar o vazio da criação, ou sua ausência definitiva, o silêncio ensurdecedor da pós-modernidade • Victor Burton é designer gráfico.
Revista Literal 73
74 Revista Literal
História roubada Quarto crime mais rentável do mundo, o roubo de obras de arte e peças históricas ameaça o patrimônio cultural brasileiro. Por Carla Mülhaus Publicado originalmente em agosto de 2004
Eles planejam relativamente bem os crimes e são capazes de furtos quase perfeitos. Conseguem entrar e sair do local do crime, na maioria das vezes, sem armas nem violência, dando sinais de que conhecem bem o terreno. Quase sempre o crime só é levado adiante quando há comprador certo. Basicamente, do eixo Rio-São Paulo. Depois do furto, a demora para terminar o serviço com a venda do material roubado pode levar anos, tempo suficiente para que o sumiço pare de sair nos jornais e o caso esfrie. Quanto mais valiosa a peça, ironia do destino, mais difícil é a venda. Estimulados pelo mercado negro que abastece alguns antiquários e galerias de arte inescrupulosas e pela falta de controle e segurança dos acervos de algumas instituições e coleções particulares, os ladrões que atuam no Brasil em operações de roubo ou furto de peças históricas e obras de arte são bons no que fazem. Roubam de tudo: estátuas, santos, quadros, livros, documentos. Não costumam ver terminadas as investigações de casos do gênero. Na maior parte das vezes, infelizmente, tais furtos caem no esquecimento antes de figurarem em algum inquérito. Enquanto isso, entra ano, sai ano, o patrimônio cultural brasileiro vai sofrendo suas baixas. Em 2003, não se sabe ainda se sozinho ou acompanhado, um larápio do tipo chamou a atenção de todo o país. Levou de fininho, do acervo do Ministério das Relações Exteriores do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, nada menos que cerca de 150 mapas e pelo menos 500 fotografias, como informou o jornalista Elio Gaspari na Folha de S. Paulo de 5
de outubro de 2003. O furto havia acontecido no dia 22 de julho. Apesar da prática internacional recomendar a imediata divulgação do roubo de bens culturais, o Itamaraty não se manifestou de pronto sobre o que pode ser considerado um dos maiores roubos no setor de obras raras da história do país. Somente em agosto o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recebeu uma lista por escrito de todos os bens furtados. No mês seguinte ela foi repassada ao Comitê brasileiro do Conselho Internacional de Museus (ICOM), que tomou para si a tarefa desagradável de divulgar o escândalo. Nestes casos, trata-se do procedimento correto, já que as denúncias costumam ajudar muito o trabalho da polícia. Em todo o imbróglio, um detalhe ficou mais claro do que nunca: o patrimônio histórico e cultural brasileiro corre perigo. Só no Rio de Janeiro, estado com maior número de registros de peças furtadas, já são mais de 500 obras desaparecidas, segundo o Iphan. Os últimos furtos incluem até luminárias das ladeiras de Santa Teresa (instaladas no final do século XIX) e balaustres da Rua da Glória, colocadas no local pelo prefeito Pereira Passos, em 1904. Preciosidades do acervo do Itamaraty, como uma coleção de imagens do Rio de Marc Ferrez e 64 retratos dos membros da realeza (Princesa Leopoldina e d. Pedro II incluídos) ajudam a engrossar a lista – ao todo, o cadastro do Iphan lista mais de 800 peças do patrimônio desaparecidas no país. Não fosse trágico, o roubo da Mapoteca teria algo de cômico. Ou, no mínimo, de curioso. Revista Literal 75
No dia 21 de agosto, os itens roubados mais raros de todos foram devolvidos pelo correio. 11 das 12 pranchas do atlas Estado do Brasil, de 1631 (algumas com detalhes pintados em ouro) e todas as cinco pranchas do Livro de toda a costa da Província de Santa Cruz, feitos respectivamente em 1631 e 1666 por João Teixeira Albernas, um dos mais importantes nomes da cartografia portuguesa, retornaram à casa enrolados num canudo do Sedex. O remetente? O mesmo João Teixeira Albernas, que identificou-se como morador do lado ímpar da rua General Polidoro, também conhecido como cemitério João Batista. Quatro dias depois, o Museu do Itamaraty recebeu outro presente-devolução: um atlas com 19 mapas manuscritos, uma das peças mais valiosas da coleção escolhida criteriosamente pelo ladrão, que só devolveu peças únicas. São as mais difíceis de serem passadas adiante. Já a coleção de imagens do Rio de Marc Ferrez continua desaparecida. Ela pode estar em Londres ou Paris, onde artigos do tipo atingem a cotação máxima entre os receptadores. O Iphan possui um Banco de Bens Culturais Procurados. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico (Delemaph), criada pela Polícia Federal após do roubo do Itamaraty. Depois que a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) revelou que o furto de obras de arte ocupa o quarto lugar no ranking das atividades criminosas mais rentáveis do mundo (só perde para o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e o contrabando de armas), a Polícia Federal brasileira passou a olhar para o problema com mais atenção. Na verdade o alarme já havia soado em 1997, quando a sede da Interpol, na França, pediu informações à Polícia Federal sobre roubo de arte sacra. Queriam saber se os brasileiros tinham conhecimento do tráfico ilícito de peças, 76 Revista Literal
de como agiam os ladrões e se havia alguma metodologia para prevenir os roubos. Eram franceses falando grego: nada disso existia. Passado o vexame, a PF tomou como primeira missão a formação de uma equipe especializada no assunto e a intermediação na criação de um convênio entre o Iphan e o braço brasileiro da Interpol que, desde o seu estabelecimento, na década de 50, ainda não havia se dedicado especialmente à este tipo de crime. Ironicamente, aliás, foi depois da criação do Iphan, em 1937, e a conseqüente valorização do patrimônio histórico nacional, que os criminosos passaram a olhar com mais interesse para a arte sacra e outras peças de valor cultural. Fotografias, pelo visto, são freqüentes objetos de desejo. Em 2002, um álbum com cerca de 60 fotos raras de São Paulo produzidas pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo, entre 1862 e 1887, desapareceu do Arquivo do Estado de São Paulo, o segundo maior do Brasil. O Álbum Comparativo de Vistas da Cidade de São Paulo é um dos mais importantes registros fotográficos da São Paulo do século XIX. Antes do roubo, havia passado por um processo de restauração. O caso ainda não foi solucionado. O prédio do Arquivo, na Avenida Voluntários da Pátria, em Santana, tem 11 mil m2 a abriga milhões de documentos, entre eles um inventário de 1578 feito por um sapateiro da pequena vila de São Paulo. Aos poucos, para evitar outros casos parecidos, a PF vem recuperando o tempo perdido. Em 2002, criou a Coordenação de Prevenção e Repressão aos Crimes contra o Meio-Ambiente e Patrimônio Histórico – COMAP, subordinada à Polícia Fazendária, especializada em investigação e combate de roubos e furtos do gênero. Também estreitou a sua parceria com a Interpol. Junto com o Iphan, a PF, o Conselho Internacional de Museus (ICOM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) e o Ministério Público, a polícia internacional tem uma frente de ataque respeitável. Trabalho, pelo menos, é o que não tem faltado. São Paulo, segundo a PF, é o maior consumidor de peças de arte sacra, seguido de países europeus como Espanha e Portugal. O esquema costuma ser o seguinte: uma vez feito o roubo, as peças são distribuídas a um punhado de antiquários inescrupulosos, que agem como receptadores. No seleto círculo comercial de objetos sacros, os colecionadores são avisados assim que as novas peças chegam ao mercado. O próximo passo é vendê-las para coleções particulares. A partir daí, a localização da obra torna-se praticamente impossível. Quem compra, neste ponto da história, nem sempre tem como saber que está levando uma peça rouba-
rapidamente as descrições de peças roubadas, dando o sinal vermelho para a polícia e a alfândega. Se a peça furtada não puder ser reconhecida, afinal, o trabalho de investigação é praticamente perdido. Além disso, dentro dos museus e instituições culturais, é preciso controlar os acervos com métodos padronizados. “Não é permitido confiar na memória, muito menos na relação afetiva que geralmente existe com o acervo”, alerta Bittencourt. Garantir a conservação de peças e documentos é outra condição fundamental. “Algumas obras de arte desapareceram não por roubo, mas por incúria. Simplesmente viraram pó”, diz o historiador, que coleciona casos engraçados do museu antes da implantação de sistemas específicos de controle e conservação de acervos, há 20 anos. “Alguns chefes de arquivo carregavam as
da. Mas pode, é claro, desconfiar. “Estes compradores sabem quando a procedência é duvidosa. O mercado de peças roubadas só existe porque há quem as compre”, acusa o historiador José Neves Bittencourt, coordenador do Centro de Referência Luso-brasileira do Museu Histórico Nacional. Tanto para prevenir roubos desta classe quanto para lidar com os já acontecidos, os experts no assunto costumam citar uma palavra mágica que vale para instituições e coleções particulares: inventário. “O inventário é a carteira de identidade de cada peça”, diz Luiz Antonio Custódio, presidente do Comitê Brasileiro do ICOM. Através dele é possível divulgar
chaves da seção no pescoço e outros se consideravam tão donos dos arquivos que os levavam para casa”, conta. Esta relação “afetiva”, digamos assim, também se dá muito com os livros. Quem sabe não foi ela que fez com que o desempregado João Batista Sannazzaro, de 54 anos, furtasse mais de uma centena de livros de três bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais, em outubro do ano passado. Entre as obras levadas estariam algumas editadas nos séculos XVIII e XIX. Depois que as bibliotecas das faculdades de direito e arquitetura e do Museu de História Natural deram sinal do rombo, um livreiro ajudou a fazer o retrato falado do suspeito e a PF investigou sebos e livrarias,
São Paulo, segundo a PF, é o maior consumidor de peças de arte sacra, seguido de países europeus como Espanha e Portugal
Revista Literal 77
localizando as primeiras obras. O acusado, que foi solto depois de pagar uma fiança, confessou o crime e se explicou dizendo que sentia um “impulso irresistível” de carregar os livros com ele. Contra episódios como este, a solução passa pela inevitável questão da segurança. E, neste quesito, as Igrejas perdem feio de qualquer museu. “O acesso às igrejas daqui ainda é muito caseiro”, afirma Carmem Lucia Lemos, pesquisadora do Museu da Inconfidência, em Minas Gerais. “Muitas vezes, basta pedir a cha-
no seu site uma lista com fotos de todos os bens procurados no país, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) também disponibilizou na internet a lista das peças desaparecidas no estado. Desde 1998, mais de 500 peças foram levadas de igrejas tombadas pela entidade. O telefone para denúncias de qualquer furto descoberto no país é (61) 414-6136. “Nossa intenção é integrar a comunidade na luta pela preservação de seu próprio patrimônio”, afirma a presidente do Iepha/MG, Vanessa Brasileiro.
ve para uma senhora idosa responsável pela decoração do altar”, acrescenta. Quanto mais distante o lugarejo, então, mais fácil a entrada. Para compensar tanta vulnerabilidade, os mineiros têm procurado fazer a sua parte. A recuperação de peças sacras e obras de arte, algumas desaparecidas há décadas, tem sido motivo de comemoração em todo o estado. O pontapé inicial desta disputa entre mocinhos e bandidos foi dado em Santa Luzia, Belo Horizonte. Após a identificação pela TV de três anjos barrocos (um deles atribuído ao Aleijadinho) que iriam a leilão no Rio de Janeiro, a moradora Luzia Vieira denunciou à Associação Cultural Comunitária que as esculturas pertenciam ao Santuário de Santa Luzia, do qual havia sido freqüentadora assídua. Logo em seguida foi ajuizada ação civil pública, concedida liminar pelo juiz da comarca e resgatados os objetos a poucas horas do bater do martelo. Além disso, a exemplo do Iphan, que publicou
Tais iniciativas são, sem dúvida, muitíssimo bem-vindas. Só que mais uma vez fica faltando resolver o velho problema da segurança, calcanhar de Aquiles que, neste caso, não faz distinção entre países desenvolvidos ou em desenvolvimento. O problema não só é grave como também internacional. Segundo a Interpol, os países que mais registram roubos de obras culturais são Itália, França, Bélgica, Suíça, República Tcheca, Alemanha e Turquia. Um dos roubos mais famosos do mundo, no entanto, foi o da coleção Beit, ocorrido na Irlanda em 1986. Foram levados do Russborough House 18 quadros avaliados, a preços de hoje, em cerca de U$ 100 milhões. Após anos de investigações, a Scotland Yard descobriu que o objetivo do autor do crime – um ladrão comum que nunca foi capturado mas morreu anos depois do roubo – era participar de operações de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Praticamente todas as peças foram recuperadas.
O caos é tão generalizado que até mesmo uma empresa foi criada especialmente para caçar obras roubadas de museus e colecionadores
78 Revista Literal
São muito poucos os casos que acabam tão bem. No maior roubo de arte da história dos EUA, por exemplo, ocorrido em Boston em 1990, foram levados do Isabella Stewart Gardner Museum 12 quadros de Vermeer, Rembrandt, Renoir e Degas. As peças são avaliadas em U$ 300 milhões. O caso nunca foi solucionado. Segundo a Unesco, apenas 5 a 10% das obras roubadas voltam aos seus proprietários de direito. Mais da metade das obras roubadas são de coleções particulares. A instabilidade política em muitos países, o fato de algumas fronteiras serem facilmente atravessadas e a ausência de uma legislação (ou a falta de recursos para cumpri-la) abrem caminho para os saques, atropelando toda a vontade de salvaguardar o patrimônio nacional. O caos é tão generalizado que até mesmo uma empresa inglesa foi criada especialmente para caçar obras roubadas de museus e colecionadores. Mantida por casas de leilão, bancos e agências de seguro, a Art Loss Register tem sede em Londres e é formada por um grupo de investigadores britânicos. É considerada uma arma importante contra os ladrões e falsários que rondam museus, galerias e colecionadores do mundo todo, mantendo vivo um comércio que movimenta, por ano, cerca de U$ 4 bilhões. Possui um banco de dados detalhado sobre nada menos que 100 mil itens desaparecidos no decorrer do século. A cada ano, em média, 10 mil obras formalmente dadas como desaparecidas ou roubadas entram para os seus registros. Desde a sua fundação, em 1991, a empresa já recuperou milhares. Segundo as suas estatísticas, são os quadros as obras mais recuperadas. Representam 51% do total de peças roubadas e resgatadas. Se eles já existissem na época do roubo da Monalisa, em 1911, talvez tivessem conseguido desvendar o caso com mais clareza. Hoje existem duas versões para a história. A mais
conhecida é a de que um ex-funcionário do Louvre, o carpinteiro italiano Vicenzo Perugia, teria furtado a obra por puro ódio aos franceses. O objetivo era devolvê-la à Itália, terra de Da Vinci, de onde, acreditava Perugia, Napoleão a teria levado. O que ele não sabia era que o próprio Da Vinci vendera a obra aos franceses. De qualquer forma, dois anos depois, Perugia foi preso ao tentar vender o quadro a um dono de galeria de arte de Florença. Já a história contada por Andreas Schroeder em Scams, Scandals and Skulduggery traz outros detalhes. Segundo o autor, o mentor do furto teria sido o falso marquês Eduardo de Valfierno, um brasileiro especializado em vendas de obras de arte falsificadas. Vendeu tantas que resolveu se impor um desafio: iria falsificar e vender a Monalisa. Chamou seu amigo Yves Chaudron, um dos mais renomados restauradores da França (e falsificador nas horas vagas), e começaram a ser feitas as sósias de La Gioconda. Valfierno sabia que, para conseguir vendê-las, teria que de fato roubar a verdadeira. É neste capítulo que entra o Perugia, contratado apenas para realizar o furto, tarefa que cumpriu com sucesso. Enquanto ele escondia o quadro e aguardava as próximas coordenadas do falso Marquês, o golpista já colocava no bolso o lucro das suas vendas, estimuladas pela grande repercussão que o caso teve em todos os jornais do mundo. Para os colecionadores, não poderia ter existido isca melhor. Ao todo, vendeu cinco Monalisas “originais” nos EUA e uma no Rio de Janeiro, amealhando um total de U$ 72 milhões. Ficou tão satisfeito com o pé de meia que deixou o quadro verdadeiro com Perugia e sumiu. O desfecho desta versão é o mesmo: dois anos depois, Perugia tentou vender a pintura em Florença e foi preso. A Monalisa foi devolvida para a França, enquanto o marquês de mentirinha começava a curtir sua gorda aposentadoria no Marrocos• Revista Literal 79
A primeira vez de Rubem e Zuenir No mesmo número da revista Senhor, de 1961, Zuenir Ventura estreou como cronista e Rubem Fonseca como contista. Mais de quatro décadas depois, os dois escritores rememoram, numa troca de e-mails, a história destes textos, apresentados aqui em sua grafia original. Publicado originalmente em setembro de 2004
De: “Zuenir Ventura” Para: “Rubem Fonseca” Assunto: JRF Zé Rubem: olha que coisa engraçada. O Sérgio Augusto me emprestou uma edição da revista Senhor que eu procurava há muito tempo porque nela eu publicara minha primeira crônica: “Como não ser provinciano em Saint-Tropez”. Folheando o número, eis que encontro o conto “Teoria do Consumo Conspícuo”, de um misterioso JRF. Na apresentação dos colaboradores, o editor, que era o Odilo (Costa, filho), avisa: “JRF prefere ficar incógnito”. Pergunto: Esse foi o seu primeiro conto publicado?. Você se lembra dessa edição? Um forte abraço, Zuenir. ***
De: “Rubem Fonseca” Para: “Zuenir Ventura” Assunto: RES: JRF Zuenir
Sim, este foi o meu primeiro conto publicado. Eu realmente disse ao Odylo que não queria ser identificado, pensei em usar um 80 Revista Literal
pseudônimo e não encontrei nenhum que me agradasse. (O Odylo me pagou o mesmo que pagava aos cobras que publicava na revista, não obstante eu fosse um novato). Hoje eu usaria o pseudônimo de Joaquim Araújo ou coisa parecida, qualquer coisa serviria. Quando o Gumercindo Doria, que tinha uma editora, a GRD, leu a revista, me procurou perguntando se eu tinha mais outros contos, pois caso afirmativo ele queria editar um livro meu. Pedi ao Gumercindo que não usasse o meu nome por inteiro, todo mundo me conhecia como José Rubem. Assim surgiu o Rubem Fonseca. E durante muito tempo pouca gente sabia que era eu, José Rubem, o autor do livro Os prisioneiros. Mas infelizmente o anonimato durou pouco. Isso tudo para lamentar que eu não tenha feito o mesmo que o Pynchon, que ninguém conhece, nem sabe onde mora. Lembro-me de nós dois almoçando, ou conversando no lobby do hotel, ou passeando em Manhattan, um monte de pessoas cruzando com a gente e ninguém tendo a menor idéia de quem era ele. O sortudo só tem um retrato circulando, de quando tinha 14 anos. Enfim, é isso aí. Eu não tenho a re-
vista, nem me lembrava dela. Acho que nem a comprei, na ocasião. De: “Zuenir Ventura” Para: “Portal Literal”
***
Vou mandar os textos meus e do Zé Rubem. Junto o email dele com as informações que pode usar. Quanto a mim, você pode dizer que eu estava em Paris estudando no Centro de Formação de Jornalistas, como bolsista do governo francês em 1960/61. Era também correspondente da Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, tendo coberto eventos como o chamado “Encontro do século”, entre Kennedy e Kruschev em 1961, em Viena. A crônica é resultado de uma ida com amigos (o cineasta Joaquim Pedro de Andrade e o ator Antonio Pedro, entre outros) a Saint-Tropez, que estava sendo descoberta para o mundo como a praia de Brigitte Bardot. Como conto, foi o momento de lançamento da revolucionária moda da cintura baixa, a moda Saint-Tropez, que exibia um apêndice até então pouco valorizado: o umbigo. Se precisar de mais coisa, me fala. Beijos, Zu.
Teoria do consumo conspícuo – nunca tire a máscara
Por Rubem Fonseca
Estávamos dançando abraçados, de frente, da maneira convencional. Ela não queria brincar no cordão, nem queria outra sorte de abraços, nem queria tirar a máscara. Eu gritava no meio do barulho, pedia no seu ouvido: “Tira a máscara, meu bem.” Ela nada. Ou melhor, sorria, os dentes mais lindos do mundo, de bôca aberta. Eu via os molares lá no fundo. Não tinha uma cárie, tudo branco parecia dentadura de elefante. Dançamos a noite tôda. No princípio, fiquei muito excitado. Depois, fiquei cansado somente; mas continuamos abraçados, bem apertados. Eu só via o seu queixo, que era branco
e redondo e a bôca. Da bôca para cima nada. Nem os olhos a máscara deixava ver direito. Me contaram uma história de um par mascarado que dançava no carnaval. Êle estava vestido de cachorro e tinha uma máscara de gente; ela estava vestida de gente e tinha uma máscara de gata. Tiraram as máscaras ao mesmo tempo. Debaixo da máscara de gata estava a cara de uma mulher; debaixo da máscara de gente estava a cara de um cachorro, o que tinha corpo de cachorro era cachorro mesmo: as aparências enganam. Era o último dia de carnaval e em todo carnaval eu sempre fôra com uma mulher diRevista Literal 81
ferente para casa. Já era têrça-feira, mais um pouco o carnaval acabava e eu não teria mantido a tradição. Era uma espécie de superstição, como a dêsses sujeitos que todo ano vão à igreja dos Barbadinhos. Eu temia que algo malévolo ocorresse comigo se eu deixasse de cumprir aquêle ritual. À meia-noite começaram a cantar no salão, com o mais genuíno dos masoquismos, “é hoje só, amanhã não tem mais”. Essa advertência, de que era aquêle o último dia, me deixou muito preocupado. Continuávamos dançando, ela rindo a três por dois, jogando a cabeça para trás, bôca aberta e eu, olhando os seus molares; cheio de mêdo, pois era hoje só, amanhã não tinha mais. Nossa conversa era feita de olhares e apertos, pois o barulho da orquestra, dos gritos e apitos, não permitia que conversássemos. De vez em quando apertava a mão dela e ela retribuía o apêrto; outra vez, prendia a perna dela entre as minhas, ou a minha entre as dela e novamente sentia a receptividade. Beijava-a no pescoço, na orelha; ela raspava na minha nuca uma unha pontuda e afiada como se fôsse uma faca. O tempo foi passando, passando e acabou. Já era de manhã. Saímos do baile e, como era verão, o sol iluminava todo mundo. Todos estavam feios, suados, sujos. Aparecia em certas caras a burla do lábio fino engrossado pelo batom; peitos postiços saíam da posição; sapatos altos quebravam o salto e algumas mulheres viravam anãs de repente; sovacos fediam; dedos dos pés e calcanhares surgiam calosos e imundos. Só a minha amiga continuava bonita e fresca, como se fôsse uma rosa. E de máscara. – Já é de dia – disse para ela. – Você pode tirar a máscara. – Você quer mesmo que eu tire? – perguntou ela. Íamos andando pela rua, sós. As outras pessoas tinham desaparecido. – Já é de dia – repeti, achando boa a razão que eu apresentava. – Além do mais, o carnaval acabou – disse com certa tristeza. – Hoje é quarta-feira de cinzas. – Você quer mesmo que eu tire? – tornou ela. – Já é de dia – insisti. – Parecíamos personagens de Pady Chaie82 Revista Literal
vsky. Continuamos andando. Eu de mau-humor. – Vamos para a minha casa? – perguntei, urgente e sem esperança. – Não posso tirar a máscara – disse ela. – Não tira – disse eu, decididamente. Mas estava apreensivo. Não havia tempo a perder. – Vamos? Como ela não respondesse, eu a peguei por um braço e levei-a para minha casa. Quando entramos ela disse: – Não posso. – Tirar a máscara? – Quem falou em tirar a máscara – disse ela, botando as mãos no rosto e dando um passo para trás. – Eu não falei em tirar a máscara – defendi-me. – Foi você, dizendo “não posso”. – Eu não falei na máscara – protestou ela. Eu me sentei e tirei os sapatos. – Nós dois estamos perdendo o nosso tempo – disse eu. – É melhor você ir embora. – Você não entende – disse ela. Num gesto dramático, tirou a máscara. – Não suporto o meu nariz – disse com desafio na voz. Era um nariz muito bonito, arrebitado. – O seu nariz é muito bonito – disse eu. – Você é tôda muito bonita. – Não sou, não – disse ela, com jeito de quem ia chorar. – Vocês homens são todos iguais. – Está certo. Somos todos iguais. E daí? – O meu problema é não ter oitenta contos. Você me dá oitenta contos? – Oitenta contos? – Você me dá oitenta contos? – argüiu ela, como se estivesse me pondo à prova. De bôca fechada, me olhava fixamente. Eu me levantei e vi minha caderneta de cheques do banco. Tinha oitenta, justos. – Dou – disse. Fiz um cheque e entreguei a ela. – Depois eu pago – disse ela. – Não precisa – disse eu, olhando o relógio. – Hoje já é quarta-feira. – Pago sim. Vou trabalhar e pago. Eu não gosto de dever a ninguém. – Está certo; você paga. Bocejamos os dois. – Os médicos são muito caros, você não
acha? Oitenta contos só para operar um nariz – disse ela. Foi andando em direção à porta. Eu estava tão cansado que continuei sentado. – Você vai querer me ver de nariz nôvo? – perguntou ela. Eu tive vontade de dizer: “Você não precisa de um nariz nôvo, está gastando dinheiro à toa; além do mais, me deixou completamente na miséria levando os últimos oitenta contos da minha indenização trabalhista.” Mas achei
que isso não seria gentil da minha parte e disse somente: – Vou. – Ciao – disse ela, saindo e fechando a porta. Deixou a máscara em cima de uma cadeira; era preta, de cetim, com um perfume forte e bom. Botei a máscara e fui para a cama. Estava quase dormindo quando me lembrei de tirá-la: um sujeito que sempre dorme de janelas abertas não pode dormir com uma máscara que lhe cobre o nariz•
Como não ser provinciano em Saint-Tropez Por Zuenir Ventura
Para ser um tropeziano de fato, nenhum problema: basta nascer em Saint-Tropez. Mas para tornar-se um “tropeziano”como manda o figurino (isto é, com todos os tiques), aí a coisa se complica. É preciso seguir a moda como se ela fôsse uma religião e estar absolutamente atento às menores variações. A dificuldade em seguir a moda tropeziana está em que ela dura um dia, como pode durar meses. E, no entanto, você pode destruir tôda uma reputação se, por exemplo, chamar o seu Jaguar de Jaguar, quando a moda é (além de usá-lo vermelho, nesta temporada) chamá-lo Jag. Se você é mulher, o problema é muito maior. A mocinha que chegou e, por hábito, lavou os pés, está infalivelmente mal falada. Andar descalça, de pés sujos, é o último requinte da moda feminina. As mais caprichosas carregam mesmo nos pés uma crosta que varia segundo o tempo em que elas estão em Saint-Tropez. Não há qualquer indiscrição em dizer a uma môça, olhando-lhe os pés: “Puxa, fulana, você já está há um mês aqui”. Ela ficará até satisfeita de ver que você tem bastante sensibilidade. Evidentemente, estas coisas são elementares. Mas à medida que você aprende isto, os exames vão ficando cada vez mais difíceis, principalmen-
te porque ninguém lhe ensina coisa alguma. Ou você aprende ou volta para a província. Aqui é preciso ser inteligente, observador, sensível e ter bom-gôsto. O dinheiro nem sempre adianta. Você pode ter um iate luxuosíssimo e, na hora do almôço, ficar mal falado. Se você volta para o pôrto na hora de almoçar, está cometendo uma gaffe irremediável, pois para encomendar os pratos de almôço há todo um código de apitos e bandeiras, que os restaurantes conhecem e respeitam. Mas a sensibilidade ainda é o prato de resistência. Uma pessoa sensível pode lançar a sua própria moda e sabe-se de inúmeros casos em que certas particularidades têm valido a seus felizes inventores muitos passeios solitários. Mas há sutilezas difíceis de apreender. Há alguns anos a moda foi a Citroen 2CV, o carro mais barato da França. Tudo porque era o modêlo de Gerard Philippe. E nesta última temporada, ao contrário das outras, quem passasse com o cano de descarga aberto seria olhado como um monstro antediluviano. Para as praias, a mesma falta de lógica. Cem metros de areia onde é impossível esticar o braço e, dez metros adiante, a mesma areia, o mesmo sol, o mesmo mar completamente deRevista Literal 83
Arquivo pessoal
sertos. Se você quiser escandalizar, pergunte por que não chegam um pouquinho pra lá. É claro que não há qualquer razão, mas você corre o risco de ser linchado como muitas bruxas o foram, naquele mesmo lugar, na Idade Média. Porque “um pouquinho pra lá” é sempre onde começa a fronteira da zona perigosa, da zona fora da moda. E para invadir impunemente esta região é preciso ser uma Brigitte Bardot, uma Sagan, um Vadim, o que muda tudo. A moda da roupa costuma nascer também de um dêsses caprichos. Há alguns meses ninguém teria coragem de usar bolero de broderie inglêsa, nem calça de pano de colchão. Hoje a última moda é o tal bolero que cai diante dos seios como cortina, deixando vinte centímetros de barriga de fora, dos quais dez centímetros abaixo do umbigo. E calça de colchão que cobre o resto (se é que se pode chamar de resto). Esta moda, aparentemente simples, exige muito de quem a adota. Duas condições são essenciais: não ter barriga e muito menos o relêvo posterior exageradamente acentuado. (Aliás, a moda para esta temporada é a dos seios pequenos porém sinceros e do posterior firme mas discreto.) E ter cintura recortada, osso ilíaco bem feito e principalmente umbigo bem trabalhado. O umbigo – ah, o umbigo! – é a pedra de toque da estação. Nada mais sensacional para a estação que um umbigo, “esta pequenina jóia”, 84 Revista Literal
como já cantam os poetas seresteiros de Saint-Tropez. Se a parteira se descuidou na hora de cortar o cordão, as conseqüências se farão sentir agora. Esta moda parece que foi inventada para mostrar a variedade que existe de umbigos, matéria que nunca foi motivo de grandes atenções. Ou, como querem outros, para provar que tôdas as tropezianas nasceram sem as novidades de laboratório. O objetivo foi alcançado. Neste momento está sendo organizado um concurso para escolher “Miss Umbigo”, o primeiro concurso do gênero, desde que umbigo é umbigo, logo depois de Eva. Os critérios de seleção ainda não foram revelados e os organizadores estão encontrando grandes dificuldades: o problema jamais havia se apresentado antes. Qual o padrão ideal de beleza para o umbigo? O barroco, retorcido, verdadeiro labirinto de espirais, rico, volumoso, heróico? O clássico, redondo, profundo, misterioso? Ou o umbigo em relêvo, saliente, herniado? Em defesa dêle diz-se que “o triângulo de relevos era o ideal de beleza dos gregos para a face anterior do corpo humano”. Mas há ainda os que se extasiam com o umbigo oriental: um ôlho de Sophia Loren colocado no meio da barriga, em sentido inverso. Umbigo que já tem o veto dos freudianos, cujos argumentos têm a fôrça de serem impublicáveis.
Mais difícil do que encontrar em Saint-Tropez quarto em hotel ou umbigo coberto é saber por que, depois de milênios, cêrca de 120 mil pessoas de todo o mundo se deslocam anualmente para êste pequeno pôrto que durante tanto tempo conseguiu viver isolado de todos. Fanatismo? Certo. Vem-se a Saint-Tropez (St. Trop’ para os íntimos), privar com BB; ou para entrar num romance da Sagan; ou para ouvir Sacha Distel tocando guitarra na praia. Vem-se para ver e para fazer o que os ídolos fazem. Esnobismo? Certo. Vem-se porque é a moda. Não que seja agradável estar em praias tão cheias que dariam à Urca o complexo da desabitação. Vem-se para dizer depois que veio. Burrice? Certo. Vem-se de maria-vai-com-as-outras, para o desconfôrto, o barulho, a falta de comida, o gastar dinheiro inútil, o nada. Mal do século? Certo. Não é o ar tropeziano que leva o casalzinho de jovens a dançar nu, perante uma assistência indiferente e entediada, às 3 da manhã, no pôrto; nem é o calor mediterrâneo que provoca na menina de 17 anos o arroubo de desprendimento que faz servir cerveja no seu minúsculo porta-seios; e nem é a falta de mictórios que faz os blousons noirs desacatarem os passantes, do alto das janelas, à jato de pipi. Não é a bebida que dá coragem ao cidadão que entra no bar despido e de gravata (sem gravata não é vantagem). Não é a sem-vergonhice que despe a moça na praia.
Não é a força que arma as brigas da rapaziada. Como não é a fé que leva tanta gente, pela manhã, a assistir contrita à Santa Missa. Saint-Tropez mesmo é que não é. Na realidade Saint-Tropez é uma pequena rua onde, das 5 das tarde às 9 da noite, gente que dá para encher uma cidade se arrasta, comprimida, atrás de alguma coisa. Os homens de camisa côr-de-rosa, as mulheres de umbigo de fora. Com a mesma angústia cansaço de quem procura e não encontra o tempo perdido. Procura onde vale tudo, inclusive um Mercedes correndo a 120 e soltando peças femininas; inclusive orgias na beira da praia, inclusive recitais sérios de poesia altamente pornográfica. Para os pescadores que nunca viram filme de Fellini, é a hora do pesadelo que dura dois meses, mas que passa. Os velhos da cidade ainda lembram do tempo em que Saint-Tropez era uma cidade livre, que atraía os criminosos. Êles acham que agora é muito pior. E esperam que a moda passe, com suas mulheres de pés sujos, poetas desembocados, dançarinos nus, umbigos. Se se perguntar ao freqüentador o que se faz em Saint-Tropez êle dirá: a gente se chateia. Não só porque é “bem”sentir-se entediado, como porque, na verdade, não há o que fazer. Praia intransitável, footing, farra. E uma vontade doida de acabar, para voltar e contar com orgulho na voz: – Eu? Eu estive em Saint-Trop’• Revista Literal 85
www.rioquepassou.com.br
O passado da Lapa
Para Luís Martins, a Belle Époque da Lapa foi feita por talentosos boêmios que andaram por lá antes dele e descobriram “a sua legenda romântica”: Zeca Patrocínio, Jaime Ovalle, Di Cavalcanti e Sérgio Buarque de Hollanda. Por Álvaro Costa e Silva Publicado originalmente em setembro de 2004
No Noturno da Lapa, Luís Martins lamenta nunca ter encontrado Noel Rosa no bairro. Mas que o compositor andava por ali, ao mesmo tempo em que o autor deste delicioso livro de memórias finalmente reeditado, não há dúvida. Decerto que a freqüentar os bares onde se traçava chope com siri recheado, os cabarés onde se entornava champanhe no soirée das damas e os lupanares que inspiraram o escritor carioca a fazer seu primeiro romance, Lapa, de tão atribulada trajetória e quase ineditismo, que também ressurge, 68 anos depois, em segunda edição. Os dois livros, e ainda um CD com músicas que falam do bairro e um mapa trazendo seus pontos históricos, compõem a caixa que editora José Olympio, em parceria com a Biblioteca Nacional, está mandando para as livrarias. É mais uma prova de que a Lapa não morre e era imensa, nela cabendo tudo e todos, Luís Martins e Noel Rosa a uma esquina de distância sem jamais se encontrarem. Nascido em 5 de março de 1907, na Rua Bela, em São Cristóvão, Luís Martins teve o 86 Revista Literal
primeiro impulso de virar jornalista no dia em que morreu João do Rio. E sem sequer ter lido o grande cronista. É que João do Rio morreu dentro de um táxi que pertencia ao pai de Martins, e o filho, na ingenuidade de seus 14 anos, ficou impressionado com a gritaria dos jornaleiros que anunciavam a morte do escritor. Quem seria aquele tão falado ou, antes, tão gritado? O nome nunca mais lhe saiu da lembrança, e não foi difícil identificá-lo na lombada de um livro que viu num sebo. Depois de ler pela primeira vez João do Rio, Luís Martins decidiu: “Quero ser, além de jornalista, cronista”. E de fato foi, durante mais de 20 anos, de O Estado de S. Paulo, resultando dessa colaboração as coletâneas de crônicas Futebol na madrugada e Noturno do Sumaré e, em certa medida, o próprio Noturno da Lapa, pois Martins sempre tratava de lembrar os tempos de juventude que passou no bairro e utilizou muitas dessas crônicas para amarrar o livro. Além de quatro romances – Lapa, A terra come tudo, Fazenda e Girafa de vidro –, o escritor fez
crítica de arte, ensaios literários e históricos, poesia e organizou algumas antologias, entre as quais uma sobre João do Rio, com contos e crônicas, aparecida em 1971 com o selo da editora Sabiá e que deverá ganhar nova edição da José Olympio. [João do Rio, uma antologia. José Olympio, 2005]. A Lapa das primeiras décadas do século 1920 ostentava ares parisienses, sendo logo identificada com Pigalle, Montmartre ou Montparnasse. Sua língua, ao menos aquela falada pelos intelectuais e pelas mais finas marafonas, era o francês. Luís Martins, no Noturno, lembra discussões intermináveis acerca da poesia de Laforgue, Baudelaire e Rimbaud travadas nas mesas dos bares “49” (que ficava na Rua da Lapa, “a sala era um corredor úmido e penumbrento, cheirando a maresia e beira de cais”, segundo a memória de elefante do jornalista Joel Silveira) ou “Túnel da Lapa” (na Rua Visconde de Maranguape, que também foi restaurante e casa de música). O autor reconhece que seu livro de memórias tem um eco distante em Montmartre à vings ans, de Francis Carco, e, ao longo do texto, são freqüentes as expressões em francês, uma marca da época em que a cultura brasileira era influenciada por outro povo que não o americano. Para Luís Martins, a Belle Époque da Lapa foi feita por talentosos boêmios que andaram por lá antes dele e descobriram “a sua legenda romântica”: Zeca Patrocínio, Raul de Leoni, Ribeiro Couto, Jaime Ovalle, Di Cavalcanti, Dante Milano e Sérgio Buarque de Hollanda, este o caçula da turma. Sem esquecer o poeta Manuel Bandeira, que atravessou gerações morando no Curvelo, em Santa Teresa – a cavaleiro da Lapa e a ela ligado apenas por uma rua, a Manuel Carneiro, na verdade íngreme escadaria –, e que depois mudou-se para a Rua Moraes e Vale, onde à noite o trottoir e o entra-e-sai nas “pensões” eram intensos. A patota de Luís Martins era a de 1930 ou pouco depois: jornalistas e escritores como R. Magalhães Jr., Moacir Werneck de Castro, Rubem Braga, Jorge Amado, Odylo Costa, filho, Carlos Lacerda, Henrique Pongetti, Francisco de Assis Barbosa, Genolino Amado. Havia outros grupos, de tonalidades distintas, mas a
conviver em harmonia nos cafés. Os de esquerda eram Barreto Leite, Francisco Mangabeira, Otávio Malta, Osório Borba. Com os integralistas Plínio Salgado e Gustavo Barroso, Martins não se dava. Não tinha noite em que a gente do samba não batesse o ponto: Aracy de Almeida, Nássara, Mário Lago, Bororó, Wilson Batista, Silvio Caldas. E, claro, Noel Rosa, que no cabaré Apolo conheceu a jovem Ceci, por quem se apaixonou e para quem compôs “A Dama do Cabaré” e “Último Desejo”, ambas inspiradas naquele encontro. É o que narra Almirante em No tempo de Noel Rosa, a despeito de o crítico musical Lúcio Rangel corroborar a informação de que Noel não era assíduo no bairro das quatro letras. Preferia o Mangue. Nessa época, os famosos malandros – Joãozinho da Lapa (que se dizia filho de um general do Exército), Camisa Preta (que só usava camisas dessa cor), Flores, Meia-Noite, Miguelzinho da Lapa – já teriam aposentado as navalhas. Pelo menos a julgar pelo que escreve Luís Martins no Noturno, que saiu em 1964, feito a convite de Guilherme Figueiredo para a coleção comemorativa do IV Centenário do Rio de Janeiro, da editora Civilização Brasileira: “A Lapa sempre teve – e creio que tem ainda hoje – uma lamentável fama de lugar perigoso, antro de malandros, bandidos, desordeiros, marginais (…) – e o cidadão pacífico e desprevenido, que se perde por aquelas paragens, arrisca-se a levar uma facada sem saber por quê, ou um tiro sem saber de onde. Durante anos, eu freqüentei quase todas as noites a Lapa, bebi em seus bares, dancei em seus cabarés, perambulei por seus becos – e nunca vi nada disso”. É o mesmo que afirma Millôr Fernandes, que dos 16 aos 20 anos morou na Rua das Marrecas. “Nunca vi, na Lapa dos cabarés, dos bares, dos clubes carnavalescos, dos bambambãs e dos turunas, um assassinato, um assalto, uma briga – olhem, nem mesmo uma bofetada”, garante o humorista, que diz ter inventado, para um musical escrito nos anos 1960, uma cena de balé em que Madame Satã enfrenta toda uma patrulha da Polícia Especial, muito temida durante o Estado Novo. Mais tarde, o travesti-malandro, com imensa cara-de-pau, confirmou o fato em entrevista ao Pasquim. Revista Literal 87
Se não havia violência, a droga já era bem negociada naquelas bandas. Martins se refere aos “alcalóides” (cocaína, morfina, heroína) que andavam na moda, e eram um vício chique, o qual estava acima das posses de seu grupo, que se contentava com chope e, às vezes, uísque. Segundo o relato do escritor Benjamim Costallat, a fronteira entre a Rua da Glória e Lapa era o local preferido dos viciados, e a cocaína era conhecida como “fubá mimoso”. Um capítulo do Noturno tem como personagem principal Rubem Braga, e envolve uma das mais estranhas anedotas do “Sabiá da crônica”. O próprio Braga a contou em texto magistral, “O espanhol da Lapa”. Mas, segundo Luís Martins, ele não teria sido muito fiel aos fatos, metendo alguns “passarinhos” na história: “Por outro lado, para ser justo, devo confessar que pouco inventou. Sim, esta noite existiu, é bem verdade que dois amigos estiveram num cabaré da Lapa, numa noite de chuva, e que um deles causou enorme sensação entre as dançarinas, devido à sua espantosa semelhança com certo espanhol que elas tinham conhecido no cabaré e que morrera. Tudo isto é verdade. E posso testemunhar, com conhecimento de causa, porque o amigo a quem se refere o cronista era eu. Apenas … E aqui entra a pequena mentira do velho Braga: apenas, a pessoa que se parecia com o defunto espanhol não era o amigo – mas ele próprio”. O mais curioso é que Lúcio Rangel, em suas memórias musicais do bairro, identifica outro sósia de Rubem Braga: o violinista austríaco que se apresentava na orquestra do café Viena-Budapest. Afinal, quantos Bragas passaram pela Lapa? Foi justamente Rubem Braga quem, num encontro casual em fins de 1936, disse a Luís Martins que havia “qualquer coisa” contra o Lapa, que, publicado meses antes pela Schmidt-Editor, com capa de Tarsila do Amaral, tinha recebido boas críticas na imprensa. Escrito em primeira pessoa, é um romance forte e sincero, embora sombrio, e mostra toda a revolta do autor contra um tema considerado tabu na literatura brasileira da época: a prostituição. É evidente que nasceu de uma experiência pessoal, mas Martins tinha
88 Revista Literal
horror a que o identificassem com o personagem principal, o amargurado Paulo. Ele foi duro em sua futura avaliação da obra, considerando-a um “mau romance”. Seria, no máximo, uma “reportagem sentimental”, o que deve ter contado para sua decisão de jamais permitir uma segunda edição. Mas o que pesou mesmo foi o ridículo fuzuê que aprontaram em torno do livro. Em Minas Gerais, Lapa foi devolvido como “imoral”, mas isto foi pouco. O poetastro e deputado Carlos Maul, influente na época, enviou um exemplar do romance ao presidente Getúlio Vargas, acrescentando uma carta em que o livro era chamado de subversivo e imoral, e seu autor, de comunista. Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete do ministro da Educação Gustavo Capanema, escreveu um parecer inocentando a obra e propondo o arquivamento da questão. Mesmo assim, um processo chegou às mãos de Felinto Muller, titular da Chefatura de Polícia do recém-instalado Estado Novo. Os exemplares de Lapa foram recolhidos nas livrarias e incinerados. E Luís Martins chegou a ser preso numa fazenda do interior de São Paulo, onde se refugiara. A fazenda pertencia a Tarsila do Amaral, com quem ele vivia. Por sinal, as cartas trocadas entre o casal renderam um belo livro, publicado pela Planeta em 2003: Aí vai meu coração. Amargurado, Luís Martins resolveu deixar o Rio para sempre, trocando-o por São Paulo, onde morreu em 1981. Assistiu de longe às transformações por que passou a sua Lapa, desfigurada primeiro por uma cruzada moralista nos anos 1940, que lhe afugentou a boemia. E depois, na década de 1970, pela “reurbanização” imposta pelo governo Chagas Freitas. Na excelente introdução que escreveu para este relançamento dos dois livros, Ruy Castro (aliás, um lapiano de escol, pois por poucos meses não nasceu no bairro) diz que o nome do escritor equivale a um sinônimo de tudo que a Lapa foi e ainda é: “Ninguém fez mais pela Lapa, via palavra escrita, do que Luís Martins. E, como sói, nem um busto ou placa numa das ruas tortas registra isto”. Está na hora de corrigir essa injustiça •
www.rioquepassou.com.br
“Nunca vi, na Lapa dos cabarés, dos bares, dos clubes carnavalescos, dos bambambãs e dos turunas, um assassinato, um assalto, uma briga – olhem, nem mesmo uma bofetada”, dizia Millôr
Revista Literal 89
Vida: modos de brincar Eles começaram a publicar sua literatura em blogs, trocaram textos e críticas via e-mail, criaram uma revista virtual e são amigos do Orkut. Agora, a Geração Zero Zero começa a ver seu trabalho impresso em papel. O que ela pode trazer de novo? Por Nelson de Oliveira Publicado originalmente em outubro de 2004
1. Em meados do século XX, Fernando Ferrei-
ra de Loanda organizou o Panorama da nova poesia brasileira. Essa antologia foi o primeiro balanço da Geração de 45. Na nota do antologista, as palavras bombásticas: “Somos na realidade o novo estado poético, e muitos são os que buscam o novo caminho fora dos limites do modernismo.” De fato, a poesia desse grupo era a renovação da tradição parnasiano-simbolista contra a qual, trinta anos antes, reagira a Semana de 22. Os pontos em comum entre os diversos poetas eram de ordem estética: a penumbra psicológica, a aversão ao prosaico, a dicção nobre e os cuidados com a métrica. Mas os pontos incomuns também não eram poucos. Para saber quais eram, basta cotejar a poesia de Péricles Eugênio da Silva Ramos com a de João Cabral de Melo Neto, a de Paulo Mendes Ramos com a de José Paulo Paes. A diferença de postura entre esses poetas hoje salta aos olhos.
2.
Por mais espantoso que possa parecer, Hilda Hilst, Renata Pallottini e Carlos Felipe Moisés já foram citados, na juventude, ao lado dos poetas da Geração de 45. Espere aí, espantoso por quê? Não é próprio da juventude a movimentação, o ziguezague elétrico? Então, nada mais natural que os jovens escritores ora estejam aqui ora ali. Ora dentro ora fora das órbitas que eles mesmos ajudam a traçar. 90 Revista Literal
3. Na década de 1990, como nas décadas an-
teriores, quer você tivesse sorte ou não, era muito difícil conseguir ser editado. Principalmente se você ainda nem sequer havia estreado. O alto custo de produção dos livros fazia os editores pensarem duas vezes antes de lançar a coletânea de contos, de poemas ou o romance de autores jovens e desconhecidos. Com o advento da informatização, o custo de produção do livro caiu, o número de editoras cresceu, assim como o número de coletâneas de contos, de poemas e romances publicados. Hoje, caso não tenha a paciência necessária para suportar o lento processo de seleção das editoras, com mil dólares qualquer novato publica seu livro de estréia. Livro com cara de gente grande, livro que sai da gráfica com a mesma qualidade que o das grandes editoras. A explosão de títulos, cujos estilhaços impressos e encadernados não param de passar, é o resultado da massificação dos meios de produção. Será que no coração dessa nuvem de fogo e faísca está se formando o movimento que no futuro será chamado de Geração Zero Zero?
4.
De que maneira as gerações se formam? É necessário que além de professarem a mesma fé os autores queiram pertencer a uma geração, para que esta passe a existir? Ou, ao contrário, basta que apresentem semelhanças
ideológicas e literárias para que, independente da sua vontade, sejam incluídos em uma? O concretismo, por exemplo. Ninguém nunca se referiu à Geração Concreta, apesar de dezenas de poetas das mais diferentes procedências e idades terem seguido à risca as normas estabelecidas por Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Mas todos falam na Geração Mimeógrafo. Ou na Geração Beat. Outra dúvida: o recorte meramente cronológico é suficiente para se definir as gerações? É legítimo, no âmbito do conto brasileiro, falar na Geração 90 ou na Geração 70?
5. Penso que sim. Penso que é legítimo falar
na Geração 90 e na Geração 70. Até mesmo na Geração Zero Zero. Por quê? Porque o conceito de geração literária é algo tão amoldável, tão ajustável, que nem é necessário lançar mão da liberdade poética para fazer valer esses três casos. Aliás, é por ser tão amoldável, tão ajustável, que esse conceito não deve ser levado muito a sério. No frigir dos ovos o que vale é a qualidade literária, e só ela. Se tal escritor pertence ao clube A ou B, isso é secundário. O alarido dos que, sentindo-se ofendidos e ultrajados — “Não existe Geração 90! Isso é bobagem!” —, atiraram pedra nas duas antologias que eu organizei soou patético justamente por isso: muito barulho por nada. Tempestade em copo d’água. O principal das antologias são os contos e os contistas. O resto é mero capricho do organizador. Que, também ele ficcionista, defenderá sempre o direito dos escritores de misturarem fantasia e vida, vida e invenção. Literatura e liberdade ficam bem, lado a lado. A questão da Geração 90 perde todo o charme poético, toda a verve, quando é levada muito a sério. Quando a polícia é chamada a todo o instante: “Não existe Geração 90! Isso é bobagem!” Nessa hora, concordo com Goethe: “Desconfie de todos que possuem o desejo imperativo de policiar e punir”.
6.
Voltando à vaca fria: é necessário que além de professarem a mesma fé os autores queiram pertencer a uma geração, para que esta passe
a existir? Para mim tanto faz. Os componentes da Geração de 45, da Geração Beat, da Geração Mimeógrafo, da Geração da Orpheu e da Geração da Presença (estas duas em Portugal) faziam questão de pertencerem aos seus respectivos clubes. Mas hoje ninguém se sente muito à vontade vestindo a camisa seja de que time for. As formas do individualismo foram se modificando ao longo das décadas. Mea culpa, mea maxima culpa. Se dependesse exclusivamente da vontade dos seus integrantes a Geração 90 jamais existiria. Mas ninguém vai me impedir de exercer a minha liberdade criativa, seja na elaboração de um conto seja na de um movimento literário.
7.
Então, fazendo uso do direito que todo escritor tem de criar o seu próprio mundo, a sua própria realidade paralela, passo agora a rascunhar a Geração Zero Zero. Faço isso de maneira descompromissada. Por puro deleite. Correndo o sério risco não de quebrar a cara — isso seria dramático demais —, mas de inventar algo que de fato já existe. A roda. O café expresso. Ou a própria Geração Zero Zero. Revista Literal 91
8. A prosa produzida pelos jovens escritores,
por essa moçada que estreou em livro depois da virada do século, é bastante diversificada. Nunca se publicou tanto e tão bons livros. Ao ler A morte sem nome, do Santiago Nazarian, ou Ainda orangotangos, do Paulo Scott, ou Além da rua, do Rogério Augusto, ou os Contogramas, do Flávio Viegas Amoreira, ou o Corpo presente, do João Paulo Cuenca, ou os Dentes guardados, do Daniel Galera, ou o Encarniçado, do João Filho, ou o Húmus, do Paulo Bullar, ou o Mal pela raiz, do Jorge Cardoso, ou a Morte porca, do Wir Caetano, ou O cheiro do ralo, do Lourenço Mutarelli, ou O estranho hábito de dormir em pé, do Paulo Sandrini, ou O trágico e outras comédias, da Veronica Stigger, ou
e sociedade, conforme discutido por Adorno e tantos outros. A propensão para o nefasto, para o sinistro, para o agourento, afasta desses novos autores o dilema sofrido pela maioria dos artistas desde que o mercado editorial se estabeleceu: produzir para as massas ou para a elite? Vender trezentos mil exemplares ou só trezentos? Todos eles, consciente ou inconscientemente, escrevem para a pequena elite intelectual da qual eu e você, querido leitor, fazemos parte. Porque escrever para o leitor médio, ingênuo e de gosto pouco apurado, está fora de cogitação.
10. Em todos os livros citados quem dá as
cartas é o grotesco, o perverso, o escabroso, o
Faço isso de maneira descompromissada. Por puro deleite. Correndo o sério risco não de quebrar a cara, mas de inventar algo que de fato já existe. A roda. O café expresso. Ou a própria Geração Zero Zero
Os opostos se distraem, do Rogério Ivano, ou as Ovelhas que voam se perdem no céu, do Daniel Pellizzari, ou o Pressentimento do umbigo, do Leandro Salgueirinho, ou a Regurgitofagia, do Michel Melamed, ou Subitamente agora, do Tiago Novaes, a surpresa e o espanto brigam com a mais pura inveja. Os novos autores têm apresentado, hoje, coletâneas e romances de estréia muito superiores aos dos estreantes da década passada.
9.
A atmosfera comum a toda essa prosa exclusivamente urbana é a do bizarro. Que, tendo em vista apenas a estrutura formal, aparece das mais diferentes maneiras: ora em linha reta, ora em ziguezague, ora fragmentada, ora pulverizada e misturada, mas sem jamais perder a sua consistência bizarra. Isso logo de saída resolve o cabo-de-guerra entre lírica 92 Revista Literal
hediondo. Nesse mundo desconcertado não há heróis nem grandes exemplos de conduta, há apenas figuras física e moralmente malformadas, mutiladas, debilitadas, abortadas, aberrantes, doentias, demoníacas. A alucinação, a demência, a malemolência, as obsessões, a falta de caráter e os piores vícios minam o espírito, destroem a harmonia, corrompem a sociedade. Os seres humanos, quer vivam na periferia quer nos bairros nobres, são criaturas pequenas, tolas, criminosas, ignorantes, sempre massacradas pelos instintos mais baixos. Pela ganância, pela luxúria, pela cólera. A absoluta convicção de que tudo é vão, de que tudo é vazio, de que as pessoas são só marionetes, de que as suas angústias, as suas alegrias e as suas ações são apenas fatias de pesadelos, é a única convicção nesse mar de insegurança e dúvida. Tanatos, senhor dos suicidas, encampou todo o
território de Eros, que, acuado, resume-se agora ao sexo violento, frenético, insaciável. Se há beleza e equilíbrio no mundo, isso não é para nós. É para os hamsters, as iguanas, os animais do zoológico. Porque no momento em que nos tornamos seres racionais tudo desandou. Um filtro cinza se interpôs entre nós e a realidade, que se tornou estranha, corrupta, traiçoeira. Ao menos é o que esses jovens autores se esforçam em demonstrar.
11. Essa é a minha Geração Zero Zero. A gera-
ção do bizarro. Quem não estiver satisfeito, que crie a sua. Ou desconverse, mude de assunto. Pra que perder tempo com isso? Como eu já disse, esse passatempo beira a total irrelevância.
12. Hoje a maior plataforma de lançamento
de novos autores são os blogues e as revistas eletrônicas. Muitos dos jovens, cujos livros fazem sucesso entre os críticos e os leitores refinados, começaram publicando primeiro na internet. Essa constatação possibilita outra linha de raciocínio, outra forma de juntar os pontos no céu noturno. Seguindo os links mais instigantes, não é difícil fazer surgir a constelação da Geração Web, da qual fazem parte Alexandre Soares Silva, Andréa del Fuego, Cardoso, Cecilia Giannetti, Clarah Averbuck, Jorge Rocha, Índigo, Mara Coradello, Simone Campos e tantos outros. idéias, de rir dos outros mas principalmente de si mesmo, era bastante louvada entre os sábios da China antiga. Sorte nossa que ainda há gente que valoriza os bons trocadilhos. A idéia nasceu na Mercearia São Pedro, depois de muitas garrafas de cerveja. Na roda, Marcelino, Joca, Bressane, Ivana… A idéia: uma coletânea de contos ambientados nos botecos de São Paulo, escritos pela ala marginal e boêmia da Geração 90. O título da coletânea? Geração nojenta. Oswald de Andrade não teria feito melhor• Nelson de Oliveira é escritor e organizador da coletânea Geração Zero Zero (Língua Geral, 2011).
Divulgação
13. A capacidade de subverter as próprias
Revista Literal 93
O livro no Brasil Autor do mais importante livro sobre a história das editoras no país, o inglês Laurence Hallewell diz que não adianta só fazer livro mais barato e alerta para a entrada do capital estrangeiro neste mercado. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em novembro de 2004
O crescente interesse que a história editorial vem despertando culminou na realização do primeiro seminário dedicado exclusivamente ao assunto, realizado no começo de novembro de 2004, na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro. Coordenado por Aníbal Bragança e realizado pelo Núcleo de Pesquisa Livro e História Editorial no Brasil e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, com apoio da Capes, o I Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial reuniu mais de 100 pesquisadores do assunto, que discutiram desde a importância dos arquivos literários e editoriais para a preservação de fontes, ao atual estágio dos estudos sobre a recepção do livro. Na área histórica, foi montado um amplo panorama da história editorial a partir do século XVIII e, numa das mais emocionantes mesas, a memória de três dos maiores editores brasileiros foram apresentadas por seus sucessores. Todos os artigos apresentados no seminário estão disponíveis em www.livroehistoriaeditorial.pro.br. O seminário teve uma segunda edição em 2009. Dentre os convidados estrangeiros, destacaram-se os franceses Jean Hébrard, Jean-Yves Mollier, Diana Cooper-Richet; os portugueses José Afonso Furtado e Manuela D. Domingos; Gustavo Sorá, da Argentina, e o inglês Laurence Hallewell, autor do primeiro e mais completo panorama histórico da indústria editorial brasileira, O livro no Brasil, sua história. Lançado originalmente em 1985 pela TA Queiroz, a obra 94 Revista Literal
ficou esgotada por muitos anos, até ganhar uma belíssima edição, repleta de ilustrações, pela Edusp, em 2005 [NE. Em 2012, a editora publicou uma edição de bolso, sem ilustrações, e muito mais em conta – R$ 60; a edição de 2005 custa R$ 253]. Na entrevista a seguir, Hallewell conta por que resolveu estudar o mercado editorial brasileiro e discute os perigos que ameaçam línguas como o português.
A que o senhor atribui este crescente interesse pela história editorial? Laurence Hallewell. Quando escrevi meu livro, não sabia de nenhum curso, nem aqui, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, sobre a indústria e o processo editorial. Havia cursos sobre a história antiga do livro, mas não da edição em si. Mas isso mudou em todos esses países. É simplesmente uma indicação de como todo mundo aumenta seu grau de profissionalização. Isso acontece em todos os ramos da economia, a gente estuda sistematicamente o que antes não foi ensinado formalmente. Como surgiu a idéia de escrever O livro no Brasil, sua história? Sendo bibliotecário, fui recrutado por uma nova universidade na Inglaterra para cuidar de sua coleção de América Latina. Sendo a universidade completamente nova, essa coleção na realidade não existia e eu comecei criando tudo do zero. Além de biblioteconomia, eu me formei em línguas e literatura ibéricas, mas
sabia muito pouco de América Latina e praticamente nada de seu comércio de livros. Naturalmente procurei livros sobre o assunto. Topei com livros sobre a indústria editorial no México, Argentina, Colômbia, Chile e também em Cuba, mas sobre o Brasil somente um livro, que trata da época colonial e não diz nada sobre a moderna indústria, precisamente o que me interessava naquela época. Sabendo tão pouco sobre o país, procurei um jeito de suprir essa lacuna e descobri que o Itamaraty dava, como ainda deve dar, duas bolsas para residentes no Reino Unido – provavelmente para outros países também – pesquisarem no país. Decidi então transformar minha pesquisa na indústria editorial em uma tese de doutorado. Tive a sorte de ganhar a bolsa, o que me permitiu visitar o Brasil. Comecei a pesquisa estudando os poucos livros sobre o assunto. Mas, uma vez chegando aqui, eu pude visitar as editoras e agentes literários. Os brasileiros foram muito acolhedores. Entrar numa editora americana e dizer “posso falar com o dono sobre sua empresa?” [risos], isso provocaria uma reação hostil imediatamente, mas aqui o pior seria: “Você faria o favor de voltar amanhã? Estamos muito atarefados agora”. Mas geralmente as pessoas cessavam o que estavam fazendo, ofereciam um cafezinho e conversávamos. E claro, quanto mais gente eu conhecia, mais entendia do assunto e mais perguntas podia fazer. Pouco a pouco fui compreendendo o mercado editorial daqui. Meu propósito original era descrever a indústria editorial da época, mas descobri que a Fundação Getúlio Vargas fazia naquele momento uma pesquisa própria e decidi, em vez de concorrer com a FGV, tornar meu trabalho uma introdução histórica sobre o livro no país. A tese foi aprovada em 1975, consegui uma editora de língua inglesa para editá-la em 1982 e uma editora brasileira para traduzi-la em 1985. Esse editor brasileiro, o TA Queiroz, morreu em janeiro deste ano [2004] e foi um grande amigo meu. Eu mandei para ele uma revisão do texto e ficamos aguardando um momento melhor do ponto de vista comercial para lançar a nova edição. Infelizmente morreu. Imediatamente a Edusp, que foi co-editora da primeira edição, ofereceu-me a oportunidade de publicar a se-
gunda edição. Atualizei o texto quando começou as conversas com a TA Queiroz, há dois anos, e precisei atualizar mais ainda ao receber a proposta da Edusp.
Fez muitas mudanças? Além da atualização – o autor nunca fica satisfeito com o texto original – fiz várias pequenas mudanças e incluí novos assuntos. Por exemplo, nunca pensei no problema de livros para os cegos. Escrevi somente um parágrafo, mas pelo menos toquei no assunto agora. E vi a necessidade de um prefácio sobre como era a Europa da época do descobrimento, porque foram praticamente simultâneas a introdução da tipografia e a abertura do mundo europeu. A primeira expedição além do Cabo de Bojador [no Norte da África, onde hoje se situa o Saara Ocidental], foi em 1445, e o primeiro texto com uma data certa registrada é de 1453. Escrevi um prólogo para discutir as condições da invenção da tipografia. E a edição da Edusp está magnífica, fisicamente maior, com ilustrações em todas as margens, imprimido em pelo menos duas cores e com uma nova seleção de ilustrações. Uma coisa magnífica, estou muito orgulhoso de seu esforço. Em sua palestra, o senhor disse que o Brasil pode viver um processo de desnacionalização de sua indústria editorial. Essa desnacionalização é um processo recente ou vem de longe? A primeira multinacional neste país foi a editora de Enciclopédias Jackson, em 1911. A Enciclopédia Britânica foi a segunda. Mas a grande entrada se deu nos anos 1970, quando os estrangeiros se deram conta do tamanho do mercado de livros didáticos. A tendência é essa concentração aumentar? Já está aumentando, não é?
Ao mesmo tempo em que está ocorrendo essa desnacionalização das grandes empresas, observa-se uma proliferação de pequenas editoras, sobretudo pela facilidade tecnológica. Como o senhor avalia essa contradição? O problema está na distribuição. É facílimo editar, mas muito mais difícil vender. EspecialmenRevista Literal 95
Bom, se você acredita no mundo da livre concorrência, então não importa, os fracos vão morrer e os outros prosperar. É uma indicação da facilidade com que se pode hoje editar. Da mesma maneira que todo mundo acredita que pode ser autor, muitos acham que podem se tornar editores. Alguns dão certo, outros não. Muitas editoras são frutos de um dono e, quando o dono morre, o negócio fracassa. Um exemplo é a Brasiliense. Quando Caio Prado faleceu, houve um interregno antes de a família assumir e alguns meses sem dono não servem para nada na prosperidade de uma editora. A antiga Livraria Martins foi só dele, não havia nenhuma outra pessoa envolvida e isso acontece freqüentemente. Porque ser bom editor exige a combinação do artista com o homem de negócios. Às vezes, encontra-se um par que funciona junto. Por exemplo, no século XIX a firma Laemmert foi de dois irmãos: um foi o artista e o outro o homem de negócios. O casal
Ser um bom editor exige a combinação do artista com o homem de negócios. Às vezes, encontrase um par que funciona junto, caso dos irmãos Laemmert, no século XIX te com as pequenas livrarias sendo substituídas pelos conglomerados que só querem realmente vender best-sellers. Há uma cadeia de livrarias no meu país cuja oferta é muito sensível não somente à procura de lucros, mas à questão ideológica. Certos tipos de livros não são vendidos em cadeias como a WH Smith, como o de uma série satírica chamada Private eye. Qual seria a saída para essa produção? A Internet tem se firmado como uma saída, mas ela só serve quando você sabe o que quer. E o prazer de entrar numa livraria e encontrar coisas que não pensava existir é único, insubstituível. Como resolver a questão de um país que tem mais editoras que livrarias, que edita uma média estimada de 50 lançamentos por dia? 96 Revista Literal
Knopf, Alfred e Blanche Knopf (os americanos que descobriram – para os Estados Unidos, é claro – Jorge Amado) é outro exemplo de duas pessoas juntas com o dom. Mas quando se trata de uma única pessoa com a capacidade de negociar e a capacidade artística, então a empresa depende tanto dele que quando este desaparece a empresa vai a falência. O que poderia ser feito para uma maior circulação editorial nos países de língua portuguesa? O grande problema é que, fora Portugal e Brasil, os outros países lusófonos são muito pobres. E Portugal é um dos menores países da União Européia, tem a economia menos desenvolvida. Durante a Primeira Guerra Mundial, na aliança entre Alemanha e Áustria, os alemães diziam
que eram ligados a um cadáver, tal a situação econômica dos austríacos. Guardadas as devidas proporções, Portugal ajuda, mas não é um aliado magnífico. O Brasil tem que realmente depender de si. Faz pouco tempo, éramos a oitava economia do mundo, hoje caímos, mas o fato de que há pouco tempo atingimos posições tão altas indica que podemos recuperá-la. O país tem a riqueza natural, uma população em parte bem-educada. Mas há problemas, como a pobreza, o crime e a corrupção. O senhor comentou que um dos caminhos seria aumentar o poder aquisitivo da população, mas não acha que diminuir o preço do livro seria relativamente mais fácil? Isso pode ajudar, mas a coisa mais importante é aumentar o poder aquisitivo. Se você deseja o produto, então não importa tanto o preço, importa sua capacidade de pagar. Para o rico não importa o preço das coisas. Perguntaram a um proprietário de uma frota de navios de cruzeiro como ele esperava vender todos os espaços com aqueles preços exorbitantes em tempos de depressão da economia. A resposta foi: “Não, isso nunca é problema, problema é vender os lugares mais baratos”. Ainda entre os relativamente ricos, os menos ricos é que têm problema em comprar.
Quais os perigos que vê para as línguas nacionais? Em geral, pensa-se ser importante uma língua ter durado séculos. Mas isso não importa, importa é que cada língua tem uma vida certa por somente uma geração. Qualquer idioma pode ser perdido numa geração. Vou dar três exemplos. No Timor Leste os invasores vetaram o uso do português sob pena de morte. Nos 25 anos depois da invasão, o português esteve praticamente fora de uso comum, mesmo que ainda seja a língua oficial e tenha sido usada entre os guerrilheiros, uma parte minúscula da população. Outro exemplo são as Channel Islands, em inglês, e, em francês, Île Normand. Essas ilhas são propriedade da Coroa inglesa, mas, por razões históricas, lá se falava francês. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo sabia que não seria possível defender seus ha-
bitantes contra os alemães, levaram as crianças para a Inglaterra. Bom, bastaram cinco anos na Inglaterra e todos os menores perderam todo o conhecimento do francês. Quando a guerra acabou e essas crianças voltaram a morar com suas famílias, foi mais fácil para os pais falar inglês com elas do que ensinar o francês que esqueceram. Assim, hoje o idioma fluente nessas ilhas é o inglês. O francês se perdeu dentro de menos de uma geração. Outro exemplo é Trinidad, que foi colônia espanhola, mas, por não ter ouro, poucos espanhóis efetivamente a ocuparam. O governo da Espanha ofereceu no século 18 terra e cidadania espanhola a qualquer pessoa que fosse para lá, para evitar uma conquista pelos ingleses. A maioria destas pessoas era de colônias francesas. Em Trinidad, quase todo mundo falava francês, mas os ingleses, depois da conquista, usavam a sua língua na administração e qualquer pessoa com ambição fora das fazendas sabia que precisaria aprender inglês. Quando acabaram com a escravidão, os ex-escravos não quiseram mais trabalhar no campo, os fazendeiros importaram campesinos da Índia, por ser outra colônia britânica. Esses indianos falavam o hindu ou outro dialeto da Índia e foram obrigados a falar o inglês. A Inglaterra conquistou Trinidad em 1798, e, no princípio do século 20, a maioria falava inglês. Muita gente não sabe que o francês já foi o idioma oficial. Esse é um exemplo do que pode acontecer. A afirmação de que pelo fato de o Brasil falar português deve falar português por toda a eternidade é falsa. Claro, é preciso admitir o conhecimento do inglês por razões práticas, em todo o mundo. Depende do espírito do patriotismo do brasileiro conservar o português. O perigo está na crença de que isso não vai acontecer. É preciso dar-se conta do perigo e lutar contra. E o que pode ser feito em relação a isso? Simplesmente exigir o uso do português em toda a oportunidade. Em Quebéc, o espírito do nacionalismo é tanto que você não pode colocar algo em cima de sua loja que não seja em francês, ainda que o Canadá tenha dois idiomas oficiais. Mas, claro, o inglês tem mais poder e, para lutar contra isso, os francófonos de Quebéc passaram leis para proteger seu idioma• Revista Literal 97
José
Um menino aprende a ler sozinho e passa a viver num mundo paralelo, povoado pelos folhetins franceses. Leia o começo da novela autobiográfica publicada originalmente em capítulos no Portal Literal e lançada em livro pela Nova Fronteira em 2011. Por Rubem Fonseca Publicado originalmente em dezembro de 2004
1. APRENDENDO A IMAGINAR As memórias preservadas desde a infância e que carregamos durante nossa vida são talvez a nossa melhor educação, diz Alyosha Karamazov. E se apenas uma dessas boas memórias permanece em nosso coração, ela talvez venha a ser, um dia, o instrumento da nossa salvação. Mas há quem pense o contrário do personagem de Dostoievski, os que acreditam, como Joseph Brodsky, que “a memória trai a todos, é uma aliada do esquecimento, é uma aliada da morte”. Ao falar de sua infância José tem que recorrer à sua memória e sabe que ela o traiu, pois muita coisa está sendo relembrada de maneira inexata, ou foi esquecida. Mas ficou claro para ele que, na verdade, a memória pode ser uma aliada da vida. Ele sabe que todo relato autobiográfico é um amontoado de mentiras − o autor mente para o leitor, e mente para si mesmo. Mas aqui, se alguma coisa foi esquecida, nada foi inventado. Até os oito anos de idade ele morava em uma confortável casa em outra cidade do Brasil, Juiz de Fora, localizada no estado de Minas Gerais. Além dele, moravam o seu pai, a sua mãe, e dois irmãos. Mas ele não vivia ali. Durante 98 Revista Literal
aqueles oito anos sua vida ele viveu em Paris. Não a Paris dos bulevares de Haussmann, de Longchamp, de Napoleão III, nem a Paris festeira de Hemingway, nem a do Beaubourg e do Quai Dorsay, mas a Paris das vielas estreitas, do Pátio dos Milagres, de Richelieu, contada por Zévaco e du Terrail. Ele talvez passasse mais tempo na companhia da pérfida princesa Fausta (“ela era paciente; isto é que a fazia tão forte e temível”), do intrépido cavalheiro Pardaillan e do prodigioso Rocambole do que com a sua família. (Os Três Mosqueteiros eram uma equipe, o que os tornava menos interessantes). Os livros e os fascículos de Michel Zévaco, de Ponson du Terrail, de Alexandre Dumas lhe eram enviados periodicamente do Rio pela sua tia Natália, que era atriz de teatro, na capital do país. As narrativas desses autores fizeram-no íntimo de reis, papas, duques, cardeais, grandes inquisidores, espadachins formidáveis, princesas e estalajadeiras lindas, áulicos sicofantas e astuciosos bobos da corte. Essas pessoas o envolviam em golpes de estado, regicídios, fratricídios, homicídios, parricídios, genocídios, conluios criminosos, intrigas palacianas, envenenamentos, defenestrações, lutas de capa e espada e cenas de amor e altruísmo. José atravessava embuçado numa capa negra as ruas
Rubem Fonseca (1925), por Loredano
Revista Literal 99
de Paris, freqüentava as estalagens, as mansardas, os salões e os boudoirs de princesas, os gabinetes de cardeais e bispos poderosos e devassos; participava de intrigas políticas, traições, paixões, duelos, assassinatos; assistia à matança de hereges queimados em fogueiras por monges sinistros em meio ao entusiasmo enfurecido do populacho; enredava-se em aventuras amorosas; participava da ascensão e queda dos poderosos; testemunhava as humilhações e sofrimentos dos fracos e dos miseráveis; convivia, nos castelos, com os reis e rainhas de França, e nos porões da Bastilha, com o Conde de Montecristo e o Homem da Máscara de Ferro. E comia o mesmo que aqueles aventureiros, uma omelete, uma empada, um pastelão, acompanhados de um Vouvray “espumoso e crepitante”. Ainda que sua mãe fizesse deliciosos pratos da terra dela − seus pais eram portugueses − , ele se imaginava degustando a comida dos espadachins, não obstante se deliciasse com as tripas à moda do Porto, o bacalhau com batatas, o cabrito assado no forno e as alheiras e os chouriços de carne de porco temperados com alho e vinho, curados num fumeiro aceso num galpão de chão de pedras, especialmente construído para essa finalidade num terreno atrás da sua casa. O vinho tinto maduro português, que seu pai lhe dava diluído com água e açúcar, ainda que fosse quase um suco de frutas, parecia-lhe bastante pertinente ao mundo da sua imaginação. (Ele supunha que o Vouvray fosse um tinto maduro e surpreendeu-se ao saber que era um branco do Loire). Ele também gostava do que o seu pai chamava de sopa de cavalo cansado, vinho com açúcar e pão. Sua mãe não bebia vinho, quando muito um cálice pequeno de licor ou de Porto, ou então uma taça de champanhe. Não era da boa tradição as mulheres tomarem vinho, ainda mais da maneira copiosa dos homens. (Jean 100 Revista Literal
Francois-Revel, conta que na antigüidade beber vinho era proibido às mulheres e que há relatos históricos de maridos que mataram as esposas por terem ido beber vinho às escondidas na adega.) Apesar de “viver” em Paris, ele consegue relembrar episódios da sua existência familiar em Juiz de Fora. Sua mãe dizia que ele aprendeu a ler sozinho aos quatro anos (provavelmente ao ver os seus irmãos mais velhos estudando), ainda que José pronunciasse mal muitas palavras, pois aprendera a ler sem soletrar e as palavras para ele não tinham som, apenas significado. A mãe acreditava que isso talvez explicasse a obsessão de José com a leitura, as noites que ele passava acordado lendo, e os dias também. A mãe não tinha conhecimento, é claro, da emocionante vida de José em Paris, aquela que Zévaco e os outros inventavam para ele. Sua mãe acreditava que se José não dormisse podia ficar doente, provavelmente tuberculoso, uma doença que a aterrorizava. Do seu quarto ela podia saber se a luz do quarto dele estava acesa e o mandava dormir. Assim, para poder ler, José esperava que ela e o seu pai dormissem, utilizando-se de vários truques para manter-se acordado: andava dentro do quarto de um lado para o outro; deitava nu no chão frio de ladrilho, isso funcionava bem no inverno parisiense (digo, juiz-de-forano), com a vantagem de, às vezes, deixá-lo doente e um garoto doente ficava de cama e ninguém se incomodava se permanecesse o dia inteiro fora de casa, em Paris. (Devo dizer que Paris representava, lato sensu a França, pois as personagens de José atuavam também em outras cidades francesas. Uma vez ou outra, José ia com eles à Itália para conversar com os Borgias e ver a Ponte dos Suspiros). É bem verdade que sua mãe o enchia de gemadas, torturava-o com ventosas e cataplasmas de mostarda fervente no peito. Mas valia a pena aquele sofrimento
todo. Ele podia ler o dia inteiro e, quando afinal todos dormiam, acendia a luz e novamente pegava o livro e a leitura o despertava totalmente, ele sentia uma febre pelo corpo, que o alimentava a noite toda e o dia seguinte. Aprender a escrever foi ainda mais fácil, numa velha máquina Underwood que havia na casa. No princípio, José escrevia apenas para ver as palavras aparecerem no papel. Criava frases sem nexo. A primeira frase com lógica que escreveu foi decorada de um livro. Sempre que sentava na máquina e não sabia o que escrever batia essa frase: “De todas as artes a mais bela é sem dúvida a arte da palavra”. Na frase, as palavras eram escritas sem o acento agudo, pois o teclado americano da Underwood não fora adaptado para o português. A máquina fê-lo adquirir dois hábitos, duas propensões: ele só conseguia escrever com conforto teclando (ou digitando) as palavras numa máquina; e essas palavras nunca eram acentuadas. No entanto, por alguma misteriosa razão, José não sentia vontade de escrever uma só palavra sobre Paris, a cidade onde ele vivia, nem mesmo sobre os fascinantes personagens que povoavam a sua mente. Preferia ler do que jogar bola de gude, ou mexer com soldadinhos de chumbo ou qualquer outra brincadeira. Também não havia muitos outros meninos na vizinhança e de qualquer forma José não se juntaria a eles. E mesmo a companhia dos irmãos, Manoel e Carlos, apesar de serem muito amigos, atrapalhava as suas fabulações e descobertas. As únicas atividades lúdicas das quais ele realmente gostava era jogar futebol, andar de velocípede e observar no porão da sua casa a vida dos escorpiões e das aranhas caranguejeiras, tipo de entretenimento, aliás, que viria a ser descrito num dos seus livros. José não se lembra de brincar com os cães da casa, talvez porque fossem ferozes, dois pastores alemães, uma
fêmea de nome Guadiana e um macho, Tejo, nomes de rios de Portugal, pois segundo uma tradição supersticiosa da terra dos seus pais, dar nomes de rios aos animais impediria que se tornassem hidrófobos. Mas hoje José gosta mais de cães do que antigamente. Como José lia tudo que lhe aparecia na frente, em determinado momento, além dos romances franceses de capa e espada, devorou os livros de autores portugueses que tinham em casa − Camões, Eça, Antero, Guerra Junqueiro, Fernão Mendes Pinto (Peregrinação, lido já adulto lhe deu mais prazer), Albino Forjaz Sampaio, Feliciano de Castilho, Julio Dantas, Gil Vicente, Camilo Castelo Branco, Julio Diniz e muitos outros − e começou a ler outros autores, que a tia Natália lhe enviava, acreditando talvez, e acertando, que seriam livros cuja leitura que lhe daria prazer, como Karl May, J. Fenimore Cooper, Edgard Rice Burroughs, Edgard Wallace, seu primeiro autor de mistério. (Nunca leu os livros clássicos infantis, afinal ele não era propriamente uma criança. Alguns desses livros só foram lidos quando ele já era adulto, por curiosidade profissional.) Mas continuou gostando dos folhetins – o Curdistão bravio, as pradarias americanas, a África selvagem, os crimes na nevoenta Londres não lhe interessavam tanto assim. Mas tudo mudou quando veio para o Rio, aos oito anos.
2. OS CURTOS ANOS DE AFLUÊNCIA. A MUDANÇA
O pai de José, Alberto, e sua mãe, Julieta, dois jovens imigrantes portugueses, haviam se conhecido no Rio de Janeiro, quando Alberto trabalhava no magazine Parc Royal e Julieta em A Moda, uma elegante loja de roupas feRevista Literal 101
Arquivo pessoal
102 Revista Literal
mininas. O Parc Royal fora fundado em l875, pelo português Vasco Ortigão, filho do conhecido escritor português Ramalho Ortigão, e tornara-se em pouco tempo o mais importante estabelecimento comercial do Rio, com inovações que cativaram os consumidores, como a exibição dos preços de todas as mercadorias e a distribuição de catálogos ilustrados. O prédio da loja, que ocupava um quarteirão inteiro da rua que um dia se chamou Rua das Pedras Negras e depois receberia o nome de Ramalho Ortigão, entre a rua Sete de Setembro e o largo São Francisco, possuía 140 janelas, 48 vitrines externas e 5 portas de acesso. Alberto, que era muito trabalhador, como a maioria dos imigrantes, e sendo particularmente dedicado à firma, alcançou na mesma o posto de gerente, certamente com alguma participação nos lucros, o que lhe permitiu economizar o suficiente para estabelecer o seu próprio negócio. Alberto ouvira falar no potencial de uma cidade, Juiz de Fora, perto do Rio de Janeiro, conhecida como a Manchester mineira. E com muita ambição e esperança, usando as economias que conseguira fazer em anos de vida frugal e alguns empréstimos, abriu naquela cidade (onde todos os filhos dele e de Julieta nasceriam) um grande magazine, que pelo desejo de Alberto seria grandioso como o Parc Royal. A esse sonho, Alberto deu o nome de Paris n’América. O pai de José, como todos os portugueses da sua geração, era fortemente influenciado pela cultura francesa, e isso certamente o levara a escolher aquele insólito nome afrancesado, repetindo, de certa maneira, o que fizera Vasco Ortigão. Além disso, é provável que ele conhecesse a loja Paris em Lisboa, localizada na rua Garret, no Chiado, quase em frente ao famoso café A Brasileira, freqüentado por Fernando Pessoa e outros escritores. Durante alguns anos o empreendimento de Alberto foi um grande sucesso. José e sua família moravam numa casa confortável, Alberto e Julieta jogavam tênis, a mãe estudava bandolim e pintura e em pouco tempo estava pintando a óleo quadros religiosos; seus irmãos brincavam e José lia. Entre as pinturas da sua mãe que não se perderam, destacam-se um são José com o Menino Jesus no colo e um Sagrado Coração
de Jesus Cristo com o coração rubro aparecendo no meio do peito. Mais tarde Julieta pintaria figuras terrenas e também nus femininos, que sempre estiveram em moda junto aos amadores. José tem até hoje, na parede de sua casa, o quadro a óleo de uma mulher nua, recostada num sofá, contemplando, de perfil, um colar de pérolas que ela sustenta com a mão levantada em frente ao rosto. Além de pintar, Julieta tangia com habilidade o bandolim e cantava em saraus para a família, nunca para estranhos; dirigia um Oakland conversível e fumava com uma piteira. O pai pedira que a mãe de José fumasse, achava elegante uma mulher fumando, mas Julieta detestava o cigarro e só fumava quando Alberto estava por perto. Julieta foi provavelmente a primeira mulher da “sociedade” que dirigiu um automóvel e fumou em Juiz de Fora. A família possuía dois automóveis, um excesso numa cidade pequena, ainda mais dispondo de um motorista particular, cujo nome poderia ser de derivação patronímica ou uma alcunha sinônima de patranha, pois Mário Gamela era um grande contador de casos de autenticidade duvidosa. De compleição robusta e tez muito vermelha, era uma figura imponente em seu uniforme e boné escuros. Mário Gamela era um homem disposto, que ajudava os outros empregados (o jardineiro, a cozinheira e as duas arrumadeiras) nas épocas em que se faziam as alheiras e chouriços no galpão especial construído nos fundos da residência. Uma das possessões mais apreciadas da casa, mais do que os tapetes persas, os quadros, os móveis de madeira-de-lei, os cristais e a prataria, era uma vitrola do último tipo, onde a mãe de José escutava diariamente árias de ópera com os cantores da moda, Caruso, Tito Schipa, Tita Rufo. José cresceu ouvindo óperas e certas árias lhe causam, hoje, um inefável sentimento de nostalgia. Duas ocasiões eram importantes no calendário de festejos da família, os dias dedicados a São João e ao Natal. Não era uma festa de São João brasileira, faltavam as roupas caipiras, a dança conhecida como quadrilha, o casamento na roça e o quentão, cachaça com gengibre levada ao fogo. Mas eles faziam uma grande foRevista Literal 103
gueira no quintal dos fundos, em torno da qual os convidados (empregados da loja e suas famílias eram incluídos) se reuniam para cantar enquanto bebiam licores e vinhos portugueses, bagaceira, vinho do Porto, vinho Madeira. Assavam batatas na fogueira e havia ainda uma enorme mesa de comidas e doces. Eram lançados fogos de artifício que explodiam no espaço. Bastões e estrelinhas, além de outros fogos de salão, eram distribuídos entre os convidados. Por algum milagre, parece que nunca chovia nesse dia. A outra festa era o Natal, a consoada do dia 24, com arroz de polvo, bacalhau, um leitão e um cabrito inteiros assados, alheiras, chouriços, sarrabulho, pão-de-ló, fios d’ovos, pastéis de Santa Clara e Toucinho do Céu e frutas portuguesas, cerejas, pêras, maçãs, uvas, morangos. Um dia José perguntou à sua mãe se jaca era uma fruta gostosa e ela respondeu, desdenhosa, “nós não comemos isso”. Jaca era uma fruta que crescia em qualquer quintal, no meio do mato. Era uma fruta de gente pobre, como a banana. (Não havia, porém, desperdício de comida na casa de José. Uma parte dos alimentos preparados, e não somente o que sobrava, era distribuída para os pobres. Era comum as famílias com recursos terem o “seu pobre”, que costumava receber roupas e alimentos periodicamente. A família de José “tinha” vários, que nos dias de festa faziam uma fila para receber presentes e alimentos. A comida era considerada, apesar da fartura, com reverência mística. Nada se podia deixar no prato, no qual só se colocava aquilo que realmente seria ingerido, pois jogar alimento fora era uma espécie de pecado. E se um pedaço de pão, por menor que fosse, tivesse que ser atirado no lixo, teria antes que ser beijado com contrição, um pedido de perdão pelo herético gesto de desperdício.) 104 Revista Literal
Era uma vida afluente, cheia de conforto e tranqüilidade. Porém, não demoraria muito para que a família ficasse na miséria. Sem recursos para bancar seu ambicioso projeto comercial (“no Paris n’América você pode comprar desde um alfinete até um automóvel”, era o slogan da loja), o pai de José começou a enfrentar problemas financeiros. Para evitar a vergonha da falência ou mesmo da concordata, que a maioria dos comerciantes consegue enfrentar com algum lucro, teve que fechar a loja. Todos os credores foram pagos na íntegra, um motivo de orgulho para toda a família. Mas para isso os bens tiveram que ser vendidos, as jóias, os móveis, as pratas, as louças, os quadros, os tapetes, os livros, os discos, tudo, inclusive, evidentemente, a casa. Apenas foi mantido um relógio Omega de bolso, de ouro maciço, muitas vezes empenhado e sempre resgatado da caixa de penhores, um símbolo, não de evocação nostálgica dos tempos de abundância, mas de advertência dos reversos do destino. O relógio está hoje com José. Abrindo-se a placa externa, pode-se ler em outra, interna, que fecha o mecanismo, uma gravação com os dizeres “Omega, Grand Prix, Paris, 1900”. Julieta e Alberto (ele não tomava nenhuma decisão importante sem consultar a mulher) decidiram voltar para o Rio de Janeiro, a Manchester mineira não oferecia ao pai de José condições para um recomeço, e talvez Alberto e Julieta não se sentissem bem em continuar vivendo num lugar onde ruas e pessoas lembravam a opulência perdida e o sonho fracassado. José e seus irmãos não participaram das providências logísticas que foram tomadas para a mudança. O certo é que José cuidou de colocar seus livros favoritos numa mala grande, para carregá-los consigo. Ou seja, de qualquer maneira ele não pretendia deixar de viver em Paris•
Zeca Fonseca
Revista Literal 105
106 Revista Literal
Revista Literal 107
PatrocĂnio