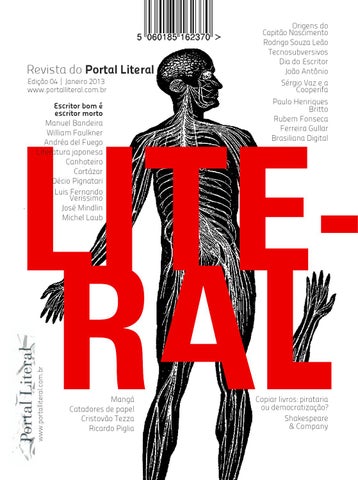Revista do Portal Literal Edição 04 | Janeiro 2013 www.portalliteral.com.br
www.portalliteral.com.br
Escritor bom é escritor morto Manuel Bandeira William Faulkner Andréa del Fuego Literatura japonesa Canhoteiro Cortázar Décio Pignatari Luis Fernando Verissimo José Mindlin Michel Laub
Mangá Catadores de papel Cristovão Tezza Ricardo Piglia
Origens do Capitão Nascimento Rodrigo Souza Leão Tecnosubversivos Dia do Escritor João Antônio Sérgio Vaz e a Cooperifa Paulo Henriques Britto Rubem Fonseca Ferreira Gullar Brasiliana Digital
Copiar livros: pirataria ou democratização? Shakespeare & Company
EXPEDIENTE
Realização Conspiração Filmes Produtor Executivo Luiz Noronha Curadoria Heloisa Buarque de Hollanda Coordenação Elisa Ventura Editor (site) Ramon Mello Co-editora (site) Manoela Sawitzki Revista Portal Literal n. 4 Editor (revista eletrônica) Bruno Dorigatti Colaboração Cássio Loredano (caricaturas) Tomás Rangel (fotos Rodrigo S. Leão) Direção de Arte e Design Retina78 Imagens capa e p. 3 Christiano Menezes Agradecimentos Cássio Loredano, pela cessão das caricaturas que ilustram esta edição. Tomás Rangel, pela cessão das fotos de Rodrigo S. Leão.
www.literal.com.br
Patrocínio
Revista do Portal Literal
A Revista Literal foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição Não Comercial - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada. © 2013 http://creativecommons.org.br Todos os esforços foram envidados no sentido de garantir o devido crédito aos detentores de direitos autorais e de imagem. Para os materiais que não puderam ser identificados e creditados com segurança, o direito está reservado. No caso de um detentor se identificar, faremos com prazer constar o crédito nas impressões e edições seguintes.
SOBRE ESTA EDIÇÃO Por Bruno Dorigatti
Toda antologia é uma tarefa ingrata, já que cheia de dúvidas. Foram algumas semanas lendo tudo o que foi publicado na revista Idiossincrasia, deste Portal Literal, nos últimos 10 anos. Outras semanas selecionando alguns dentre as centenas de textos para procurar dar uma boa amostra do que foi produzido nessa década pelo site.
O que nos leva a incluir um texto em detrimento de tantos outros é sempre algo muito subjetivo, embora tentamos aqui ser o mais objetivo, tentando alcançar uma representativade do que foi relevante e registrado no “calor da hora”, digamos assim. A intenção foi apresentar uma pequena amostra dos mais significativos, seja pela assunto, pelo texto em si, pelo que representam ainda hoje dentro deste panorama cultural e literário do país.
Pouco ou quase nada foi alterado nos textos, até porque a intenção sempre foi fazer um panorama retrospectivo. Alguns textos ganharam um pequeno box ao final. Outros, apenas uma Nota do Editor entre colchetes e marcada como NE. Por fim, alguns nem disso precisaram. Foi mantida ainda a grafia original de quando os textos foram escritos.
Comecei a colaborar com o Portal Literal em 2004, passei a integrar a redação em 2005, como repórter e subeditor e, alguns depois, como editor, onde fiquei até 2010. Só posso agradecer a imensa generosidade, carinho e atenção que sempre tive de Heloisa Buarque de Hollanda, Cristiane Costa, Elisa Ventura, Su, Omar Salomão, Valeska Zamboni, Cecilia Giannetti, Ramon Mello. Com eles, aprendi muito sobre tudo, incluindo aí jornalismo e até literatura. Agradeço também a Giuseppe Zani, parceiro da Petrobras, que continua acreditando no projeto. Contei igualmente com eles para elaborar estas edições especiais, assim como com o estúdio de design Retina78, responsável pelo projeto gráfico e a diagramação. À eles, o meu agradecimento pelos acertos. As eventuais falhas na edição deste número, porém, são todas minhas•
4 Revista Literal
SUMÁRIO Apresentação Oficina da palavra, por Heloisa Buarque de Hollanda pg 06 Literal, 10, por Cristiane Costa pg 08 Tecnosubversivos pg 12 Versos a pedido, por José Almino
pg 18
Andréa del Fuego, por Marcelino Freire
pg 22
No país do sol nascente, por Giovanna Bartucci
pg 28
Fã de fanfiction pg 36 Copiar livros: pirataria ou democratização?
pg 38
A linguagem do mangá, por Amaro Braga
pg 44
Meu amigo Canhoteiro, por Ferreira Gullar
pg 50
Copa do Mundo: alegria e sofrimento, por Rubem Fonseca
pg 52
Catadores de papel pg 56 Shakespeare & Company pg 62 Luz sobre Faulkner, por Vinicius Jatobá
pg 66
Décio Pignatari, por Omar Khouri
pg 73
O primeiro conto e o último poema de Julio Cortázar
pg 76
Paulo Henriques Britto, por Pedro Sette Câmara
pg 80
Escritor bom é escritor morto, por Cecilia Giannetti
pg 84
Origens do Capitão Nascimento, por Luiz Eduardo Soares
pg 88
Dia do Escritor pg 90 Rodrigo Souza Leão, por Ramon Mello
pg 96
João Antônio em quatro tempos
pg 104
Sérgio Vaz e a Cooperifa, por Cecilia Giannetti
pg 112
José Mindlin, por Bruno Dorigatti
pg 116
Brasiliana Digital, por Felipe Pontes
pg 122
Ricardo Piglia e a ficção paranóica
pg 126
Cristóvão Tezza, por Bolívar Torres
pg 130
As memórias em cacos de Michel Laub
pg 136
Carta para Luis Fernando Verissimo, por Arthur Dapieve
pg 140
Revista Literal 5
BEM LITERAL 6 Revista Literal
HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA Oficina da Palavra
O Portal Literal nasceu no início deste século, mais precisamente em dezembro de 2002. Estávamos num momento de especial encantamento com as perspectivas da literatura na internet, sua prática descentralizada, um horizonte ainda por ser explorado em mil possibilidades expressivas. Portanto, um locus perfeito para o acesso ampliado da obra de autores já reconhecidos e da hospedagem da palavra dos novíssimos dividindo entre si o mesmo espaço e tempo. Nessa época, juntaram-se Luiz Noronha, da Conspiração Filmes, Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles, José Rubem Fonseca, Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura para uma incursão literária nos labirintos www, com o patrocínio da Petrobras, parceira desde o início do projeto. Fui convidada para ser curadora do Portal, convite que aceitei imediatamente, sem nenhuma hesitação. Daí para frente, desenrolou-se uma história linda de namoro, confronto e negociação entre a palavra literária e o potencial daquele novo espaço, ainda nebuloso. Cada autor mereceu um site personalizado, feito a muitas mãos, num trabalho experimental de plataformas e modelos que pudessem expressar os muitos sentidos da obra de cada um. O Portal foi lançado numa grande festa de pré-ré-
veillon no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Estava fincada a bandeira da literatura brasileira em terras ainda não colonizadas. Além dos autores titulares do Portal Literal, foi criada, por sugestão de Luiz Noronha, jornalista tarimbado, uma revista literária totalmente online e atualizada diariamente. O nome escolhido para a Revista foi Idiossincrasia, consensualmente considerada a perfeita tradução da atmosfera do campo literário. Brincadeira ou não, o nome pegou e transformou-se numa marca forte da presença da literatura brasileira na internet. Vários editores passaram pela nossa Idiossincrasia. Luiz Fernando Vianna, o primeiro, que deu o tom editorial que a revista manteve durante todos esses anos. Em seguida, vieram Cristiane Costa, com sua paixão pelo livro, Cecilia Giannetti que ajustou com olho certeiro o ethos literário ao universo nerd, Bruno Dorigatti, ligado em pautas inovadoras, Bolívar Torres, e, finalmente, Ramon Mello e Manoela Sawitzki, poeta e escritora, que chegam agora com força total. Nesses 10 anos, o Literal teve muitas idas e vindas. O compromisso de acompanhar a evolução acelerada do ambiente virtual fez com que mudássemos o perfil do Portal mais vezes do que previmos. O Portal Literal focou progressivamente na agilidade da internet trazendo a informação antes que ela se consolidasse em notícia, agregou várias plataformas como a Rádio Literal, a TV Literal, as plataformas transmídia, ofereceu oficinas literárias e finalmente reformulou sua navegação para formatos 2.0, mais participativos e capazes de abrigar a palavra e a criação de seus leitores. Foi uma longa jornada. Agora, oferecemos mais uma surpresa no território da palavra. Lançamos, como consolidação destes 10 anos de trabalho, quatro números especiais da Revista Literal, com a curadoria de Bruno Dorigatti e o design da Retina78, que oferece em formato de aplicativo uma primeira seleção do nosso acervo • Revista Literal 7
LITERAL, 10 8 Revista Literal
CRISTIANE COSTA Literal, 10
Posso não ter sido a primeira editora do Portal Literal, mas fui a primeira convidada. Na época, eu editava o Caderno Idéias, suplemento literário do Jornal do Brasil, e a internet estava apenas começando a mostrar seu potencial jornalístico. Tive algumas reuniões na Conspiração Filmes, onde o projeto estava sendo gestado, e dei algumas sugestões. Meses depois, foi com orgulho que vi o Portal Literal nascer, com uma grande festa, no MAM. Só assumiria o Portal, de fato, dois anos depois. Logo percebi o quanto era diferente editar uma revista veiculada num site, como a Idiossincrasia, que ocupava a maior parte da home, e um jornal impresso. Quando Omar Salomão, meu fiel escudeiro, fez uma matéria sobre a peça Regurgitofagia, de Michel Melamed, sugeriu encaixar trechos de vídeo no meio do texto. Poeta da geração que já nasceu plugada e aprendeu intuitivamente a programar, ele logo percebeu que estava diante de uma nova linguagem, que dava ao leitor a chance de checar com seus próprios olhos o que autor, jornalista e crítico diziam. Inspirados pela própria proposta do Portal, que sem cerimônia animava em flash poemas concretos como “Girassol”, de Ferreira Gullar, investimos na inovação. Isso não é difícil quando se tem uma chefe tão antenada quanto Heloisa Buarque de Hollanda. Fã de uma novidade, ela chegou a organizar uma festa de aniversário virtual, com direito a champanhe espoucando, para comemorar os dois anos do Portal. Com seu incentivo, fomos ficando cada vez mais abusados, explorando ao máximo o potencial do meio, como hiper-
textos e multimídia. Fizemos uma reportagem em formato de linkteca, uma verdadeira biblioteca de links, sobre creative commons, quando a ideia começou a ser ventilada no Brasil e a proposta de copyleft entrou em conflito com o antigo modelo de copyright. Abrimos espaço para temas ainda desconhecidos da crítica literária tradicional, como o fan fiction. Publicamos um ensaio sobre a história e a estética dos mangás. Criamos uma blogteca, relacionando os melhores blogs de escritores da época. No jornal, a equipe jornalística fica presa às burocracias, intermináveis reuniões, telefonemas e e-mails de assessores de imprensa, sobrando pouco tempo para efetivamente pensar. Num site, sem medo de errar, sem a pressão dos horários rígidos de fechamento, sem se sujeitar à ditadura da diagramação, a criatividade corre solta. Sempre me perguntei, por que eu não bolei, quando estava no Jornal do Brasil, uma coluna tão inovadora quanto a “De olho neles”, para a qual convidei o olheiro de jovens talentos Marcelino Freire? Juntos, montamos um formato interessantíssimo. Ao contrário das revistas e suplementos culturais, que privilegiam os autores consagrados, abrimos espaço para escritores inéditos ou que, no máximo, estivessem publicando seu primeiro livro. Não havia fronteiras geográficas, valia qualquer gênero literário, e o resultado não se submetia a nenhum limite de caracteres. Primeiro, Marcelino justificava em poucas palavras a escolha daquele determinado autor. Depois, era o próprio autor que apresentava a si mesmo e de sua proposta literária. Depois vinha uma rápida entrevista em formato de pergunta e resposta. Por fim, um trecho da obra. Pronto, mesmo que nunca tivesse ouvido falar daquele jovem autor, o leitor já tinha uma bela ideia do seu trabalho. Nossa vontade não era competir com a imprensa, mas criar novos formatos, aproximar a literatura off-line do universo virtual• Revista Literal 9
10 Revista Literal
Revista Literal 11
Tecnosubersivos O Autor com A maiúsculo parece estar mais mortinho do que nunca. Além de dar o tiro de misericórdia, grupos como o italiano Wu Ming querem subverter a ordem da indústria cultural, instaurar o copyleft e reproduzir a obra que bem entenderem. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em março de 2005
Desde o final do século passado vêm pipocando coletivos e grupos que questionam o status quo do autor literário (para uma história desse assassinato, ver p. 15). Com o advento de uma nova era de reprodutibilidade tecnológica, a partir do computador e da Internet, o movimento ganhou novo gás. Se a informação é a mais importante força produtiva, questionar a lógica do copyright passou a ser uma prática subversiva. E entre estes tecnosubversivos, podemos destacar o coletivo italiano Wu Ming e o coletivo brasileiro Sabotagem. O Wu Ming define-se em sua Declaração de Intentos (de janeiro de 2000) como “um coletivo de agitadores da escrita, que se constituiu como uma empresa independente de ‘serviços narrativos’”, que surge de uma “radicalização de propostas e conteúdos, deslizes identitários, heteronímias e táticas de comunicação-guerrilha, tudo aplicado à literatura e, mais geralmente, direcionado ao contar histórias ou publicar/lançar histórias escritas por outros”. A radicalização se refere às características adotadas pelo Projeto Luther Blissett, coletivo que antecedeu o Wu Ming. 12 Revista Literal
Os fundadores de Wu Ming são Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo, Federico Guglielmi (membros do Luther Blissett Project entre 1994 e 99 e autores do romance Q) e Riccardo Pedrini (autor do romance Libera Baku Ora). Todavia, os nomes gráficos pouca importância têm, tanto que em mandarim Wu Ming significa “nenhum nome”. “Na China, esta expressão é freqüentemente utilizada para demarcar as publicações dissidentes. O nome dá conta da nossa firme intenção de não nos tornarmos ‘personagens’, romancistas pacificados ou macacos amestrados por prêmio literário”, continua o manifesto. Sua linha de conduta prega: “estar presente, mas não aparecer: transparência para com os leitores, opacidade para com a mídia”. Rompendo com ironia a noção romântica de autor, o coletivo italiano também mira nos direitos autorais: “A aproximação de Wu Ming à produção cultural implica a irrisão contínua de todo o preconceito ideal e romântico do gênio, a inspiração individual e outras merdas do gênero. Wu Ming põe em causa a lógica do copyright. Não acreditamos na propriedade privada das idéias.”
Como já acontecia com o Luther Blissett, os produtos assinados Wu Ming – em suporte papel, magnético-óptico e outros – são livres de copyright. “Que status pode ainda reivindicar por si um ‘escritor’, quando contar histórias é apenas um dos tantos aspectos do trabalho mental, de uma grande cooperação social que integra programação de software, design, música, jornalismo, intelligence, serviços sociais, políticas do corpo etc., etc.?”, questiona. Para o Wu Ming, o trabalho mental “está completamente dentro das redes da indústria, e até é a sua principal força re/produtiva. Quem cria não pode de maneira alguma se abstrair, evitar intervir. Escrever é já produção, narrar é já política”. Logo depois aparece a Declaração dos Direitos e Deveres dos Narradores, que afirma que o escritor contemporâneo não é diferente do griot nas aldeias africanas, do bardo na cultura celta, do aedo no mundo clássico grego. E alerta: “O narrador tem o dever de não se considerar superior aos seus semelhantes. É ilegítima qualquer concessão à imagem idealística e romântica do narrador como criatura pressupostamente mais ‘sensível’, em contato com dimensões do ser mais elevadas, também quando escreve sobre absolutas banalidades quotidianas.” Nesta inversão de todos os valores da vida literária, “o narrador tem o direito de não aparecer na mídia. O narrador tem o direito de não se tornar numa besta amestrada das soirées ou da coscuvilhice literária. O narrador tem o direito de não responder a perguntas que não considera pertinentes. O narrador tem o direito de não se fingir versado em todos os assuntos”. Outra vítima preferencial do Wu Ming são os direitos autorais. Em seu site, dá ênfase ao “copyleft”: O conceito foi inventado por um dos líderes do Movimento de Software Livre, por Richard Stallman, nos anos 80. “É o oposto de
copyright, um copyright de esquerda. Foi uma grande inovação. Basicamente, o copyleft é um meio de defender o trabalho das pessoas, mas sem impedir que outras pessoas o reproduzam ou copiem. Porque no Projeto Luther Blissett nós escrevíamos ‘sem copyright’. Mas não é o suficiente. Porque ‘sem copyright’ significa que não há proteção possível para que, por exemplo, uma produtora cinematográfica, uma corporação, pegue a história e ganhe dinheiro só parasitando o nosso trabalho”, explica o Wu Ming. A nota de copyleft é como a de copyright, mas abaixo dela está escrito que o autor desta obra permite sua livre reprodução somente para fins não-comerciais, se quem a utilizar não a colocar sob copyright. Isto significa que o copyleft, ao invés de ser um obstáculo para a reprodução, é uma garantia da reprodução. Ninguém pode impedir outras pessoas de copiá-lo. “Quando o copyright foi introduzido, há três séculos, não existia nenhuma possibilidade de ‘cópia privada’ ou de ‘reprodução sem fins de lucro’, porque só um editor concorrente tinha acesso às máquinas tipográficas. Todos os demais só podiam ficar quietinhos e, se não podiam comprá-los, simplesmente renunciar aos livros. O copyright não era percebido como anti-social, era a arma de um empresário contra um outro, não de um empresário contra o público. Hoje a situação está drasticamente mudada, o público não está mais obrigado a ficar quietinho, tem acesso ao maquinário (computador, fotocopiadoras etc.) e o copyright é uma arma que dispara na multidão”, defende o grupo. O Wu Ming já publicou seis romances – Q, o caçador de hereges (1999) Asce di guerra (2000), Havana glam (2001), 54 (2002), Guerra agli umani (2004) e New Thing (2004) – e duas coletâneas de artigos, contos e textos vários – Esta revolución no tiene rosto (2002) e Giap! (2003) [NE. Já saíram mais quatro livros Revista Literal 13
desde então]. Este é o nome de um fanzine eletrônico, com mais de três mil assinantes, que nos dão feedback ao grupo. Seus cinco idealizadores não deixam que os fotografem ou filmem, não aparecem na mídia, mas aparecem em público porque seu slogan é “transparente para os leitores, opaco para as mídias”. No fundo, o Wu Ming não quer matar autor nenhum. O que defende é que mesmo a criação individual tem uma dimensão coletiva. “Os autores individuais vivem no mundo, sendo influenciados por milhares de sugestões, con-
obras de gente como Foucault, Saramago, García Márquez, e as disponibiliza em seu site, que já tem cerca de 200 livros a disposição, para download gratuito [NE. O site saiu do ar anos depois, mas hoje encontramos milhares de sites similares]. Em entrevista a CartaCapital (n. 326, 26.02.05), o diretor da W11, Wagner Carelli solta o verbo: “Eles são ladrões e covardes, uns filhinhos de papai que não têm mais nada para fazer. Ficam aí bancando o Robin Hood, mas o que eles querem mesmo é a pequena publicidade”.
versações e percepções que não são suas. Um autor é uma espécie de terminal que reduz criativamente uma complexidade de informações e de imagens, estabelecendo uma síntese provisória. Quando um escritor escreve, todo o mundo escreve com ele. Não somos contra o ato individual de escrever. Mas fazemos questão de dizer que quem escreve, sozinho, escreve junto com todo o mundo que o circunda. Esse é um obstáculo ideológico porque a indústria cultural tem necessidade de alimentar essa superstição do gênio, da inspiração individual. Tem a necessidade disso para organizar estratégias de marketing em torno de indivíduos, supostamente, de inteligência superior aos demais, de indivíduos a serem adorados.” O problema é que a distribuição gratuita pode afetar a venda de livros impressos. Por isso, alguns editores brasileiros vêm tentando processar o coletivo Sabotagem, que digitaliza
Apesar de afirmar que a digitalização de Stupid White Men, de Michael Moore não atinge as vendas, Carelli tentou processar o coletivo, mas não teve sorte porque simplesmente ninguém foi encontrado para receber a notificação. Mas os membros do Sabotagem, em entrevista ao Trama Universitário, pensam diferente: “Vemos que o direito autoral só pode favorecer gozo aos que o detém e aos que podem comprá-lo, tal barreira pode ser observada em todas as áreas de conhecimento, até na compilação de remédios. Os conceitos anticopyright não estão sugerindo a um escritor que ele não possa tirar uns trocos com sua obra, o movimento ataca os valores de propriedade e a detenção do conhecimento, desinteressando se a lei e suas reformas estão ou não a nosso favor; do Estado, não precisamos esperar nada.” Diferentemente da pirataria ideológica a que se vincula o Sabotagem, o Wu Ming tam-
“Cada vez mais experiências editoriais demonstram que a lógica ‘cópia pirateada = cópia não vendida’ de lógico não tem nada. Quanto mais uma obra circula, mais vende”
14 Revista Literal
Revista Literal 15
bém disponibiliza suas obras coletivas. Mas diz que não perdeu dinheiro com isso? “Cada vez mais experiências editoriais demonstram que a lógica ‘cópia pirateada = cópia não vendida’ de lógico não tem mesmo nada. De outro modo não se compreenderia como pôde o nosso romance Q, disponível grátis há mais de três anos, ter chegado à 20º edição e superado 200 mil cópias vendidas. Em realidade, editorialmente, quanto mais uma obra circula, mais vende”, garantem os italianos. Outros grupos, não tão incisivos como o Sabotagem, também vêm questionando a lógica do copyright. A editora Faísca, por exemplo, não tem registro tampouco paga direitos autorias, mas solicita autorização para editar uma nova versão. Foi o que aconteceu com Notas sobre o anarquismo, de Noam Chomsky, que prontamente atendeu o pedido e autorizou a edição alternativa. Há também a disseminação de obras em domínio público, e qualquer boa universidade federal tem sua biblioteca virtual onde disponibiliza os clássicos da literatura nacional e universal de autores falecidos há mais de 70 anos. O próprio Ministério da Educação lançou em novembro de 2004, em parceria com a Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, ligada à USP, e a Fundação Biblioteca Nacional, o Portal Domínio Público, onde disponibiliza mais de 2.500 títulos, sobretudo de literatura e ciências sociais. Com investimento de R$ 5 milhões, o acervo não se resume a livros; contém mapas, vídeos, e em breve vai receber livros de cordel, que estão sendo digitalizados pela Fundação Joaquim Nabuco, também ligada ao MEC. Com a intenção de expandir este acervo, o ministério recebe de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos projetos de digitalização de acer16 Revista Literal
vos. [NE. Em janeiro de 2011, o site contava com mais de 186 mil obras cadastradas]. Enquanto que para uns o conceito de copyright não pode mudar, mas somente a comercialização do produto, para outros, apesar do respeito à lei que deve continuar existindo, não se pode ignorar estes movimentos que praticam a democratização da informação e da cultura. A flexibilização dos direitos autorais pode ser um caminho. A burrice da indústria fonográfica em combater na Justiça o programa de troca de músicas Napster, ao invés de tentar negociar, está aí para provar que esta é a pior saída. Nada como o tempo para responder a estas questões.
PEQUENA HISTÓRIA DO IMPÉRIO DO AUTOR E DO COPYRIGHT Esta idéia de “gênio criador” surge ali entre os séculos XVI e XVIII, quando a burguesia consolida sua ascensão, apostando na meritocracia, no individualismo e, portanto, na aura de alguém dotado de capacidades extra-sensoriais para gerar uma obra. Nos períodos antigo e medieval, os cânticos, poemas e histórias se fixavam através da oralidade, o que não permitia a idéia de autor como alguém responsável por uma obra fechada, com início, meio e fim. Ela estava em permanente processo de criação, quem narrava tinha liberdade para acrescentar novos trechos, melhorar passagens truncadas.
Com a difusão proporcionada pela prensa desenvolvida por Gutenberg no século XV, um universo (ou galáxia, como preferia McLuhan) novo se abre para a difusão de idéias. O saber, antes restrito às abadias, mosteiros, igrejas e castelos, encontra no livro o meio físico ideal, prático de ser carregado e consideravelmente durável. Porém, a questão da autoria ainda não era relevante, uma vez que as obras que começam a circular nesse período são basicamente livros antigos recém-descobertos, além da Bíblia e dos clássicos da Grécia Antiga, cânones do Renascimento. Foi a modernidade que colocou o autor em evidência. A ascensão da burguesia, sua conquista de poderio econômico e, depois, político, levaria a vários questionamentos da ordem vigente até então, do poderio do Estado Real e da Igreja. A aristocracia, cuja ascendência divina funcionava como um salvo-conduto, explicando e garantindo o status quo, começa a ter seu poder posto em dúvida e a burguesia nascente vai exigir e tentar impor uma meritocracia, um reconhecimento àqueles que trabalham e, portanto, merecem ser recompensados por isso. A inspiração, antes considerada divina, passa a ser do próprio autor, que, com seu gênio original, deve ser o proprietário de sua obra. Segundo Michel Foucault, em O que é um autor? (1983), “a noção de autor constitui o momento forte da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e na das ciências”. Se o individualismo iria fortalecer sobremaneira a noção de autor, a crítica iria sacralizá-lo. Para Roland Barthes, no ensaio “A morte do autor”, “a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está tiranicamente cen-
tralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões; a crítica consiste ainda, o mais das vezes, em dizer que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de Van Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício: a explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a entregar a sua ‘confidência’”. Para Foucault, há mesmo uma proximidade entre a crítica literária moderna e a exegese cristã, onde ambas tentam provar o valor de um texto através da santidade do autor. O império do autor de que nos fala Barthes, sem dúvida está solidamente consolidado. Mas observam-se, desde Mallarmé, diversos movimentos no sentido de questionar esta infalibilidade, de apontar para a obra como outra coisa que não criação privilegiada de um indivíduo “iluminado”. O poeta francês Stéphane Mallarmé foi um dos primeiros a mexer com as noções do autor como proprietário. Ele idealizou seu Le livre, sem início nem fim, em permanente construção, único e múltiplo, impessoal e soma de todos os livros, dispensando a assinatura do autor, sempre a favor de uma condição verbal da literatura. No século XX, o Surrealismo e a Lingüística vão contribuir para essa dessacralização. O primeiro, buscando frustrar os sentidos esperados através da escrita automática, através de uma mão que escreve o mais depressa possível, e difundindo a experiência de uma escrita coletiva. A segunda, ao afirmar que a enunciação é um processo vazio que funciona sem a figura do interlocutor, “lingüisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve”, resume Barthes• (BD) Revista Literal 17
Manuel Bandeira (1886-1968), por Loredano
18 Revista Literal
BANDEIRA Versos a pedido FREYRE O escritor José Almino encontra em carta de Manuel Bandeira a Ribeiro Couto um poema inédito, que esclarece a gênese de “Evocação do Recife”: uma encomenda feita por Gilberto Freyre para comemorar o centenário do jornal mais antigo do Brasil. Por José Almino Publicado originalmente em março de 2005
“Mando-lhe os versos que fiz a pedido do Gilberto Freyre, pernambucano inteligentíssimo do Recife, para o álbum comemorativo do centenário do Diário de Pernambuco (o jornal mais antigo da América do Sul. Mas há um jornal do Chile que disputa o título…) Saudades a você e lembranças a Menina”, escreveu Manuel Bandeira a seu amigo o poeta Ribeiro Couto no final de uma carta de 1925. Tratava-se do poema “Evocação do Recife”. Em 1925, encarregado pela direção do Diário, Gilberto Freyre organiza o Livro do Nordeste, lançado a 7 de novembro do mesmo ano e no qual foi publicado pela primeira vez aquele poema: “o poema em certo sentido mais brasileiro de Manuel Bandeira — ‘Evocação de Recife’ — ele o escreveu porque eu pedi que ele o escrevesse. O poeta estranhou a princípio o pedido do provinciano. Estranhou que alguém lhe encomendasse um poema para uma edição especial de jornal como quem encomenda um pudim [...] Mas um belo dia recebi ‘Evocação do Recife’”. Não saberia dizer se “Evocação do Recife” é o poema mais brasileiro de Bandeira, mesmo quando aponho a qualificação um tanto
enigmática e tão “gilberteana”: “em certo sentido”. Mas, poderia afirmar, invocado o testemunho do poeta no seu itinerário de Pasárgada, que o seu encontro com Gilberto Freyre – cuja sensibilidade “tão pernambucana muito concorreu para me reconduzir ao amor da província e a quem devo ter podido escrever naquele mesmo ano a minha ‘Evocação do Recife’”, nas palavras de Bandeira – e a sua encomenda hajam por assim dizer evocado a “Evocação”. E mais: espicaçada a memória do poeta, tenha possibilitado que a matéria da sua vida recifense viesse a se mesclar harmoniosamente com o que observava no seu cotidiano humilde de Santa Teresa, no Rio, onde vivia, tornando-se um dos elementos ativos do seu imaginário poético. Por essa época, egresso de uma longa doença (porém eterno convalescente), solitário em seu quarto na encosta do Curvelo, o poeta abria-se para o modernismo e para a camaradagem com uma geração mais jovem e mais barulhenta. Esse período de irradiação intensa do movimento modernista assistiu “a formação do estilo humilde do poeta maduro, forjado para dizer o sublime através Revista Literal 19
do simples”, como nos indica Davi Arrigucci. Bandeira viria a desenvolver uma empatia ativa, militante pelo mundo ordinário, pelo dia-a-dia, pelas surpresas contidas na fala brasileira, utilizando os recursos de construção poética os mais variados e os materiais mais diversos, “[reconhecendo] a poesia em tudo, podendo repontar onde menos se espera e fazendo do poeta o ser capaz de desentranhá-la no mundo”. Às vezes, o poema saía pronto e era extraído ao vivo de uma conversa com um daqueles novos amigos, como se vê nesta carta a Ribeiro Couto (10.01.1928) em que resultaram versos, até hoje inéditos: Tenho passado um mês divertido com o Gilberto [Freyre]; é um companheiro excelente porque é meio fraquinho como eu, discretíssimo, e dá uma perna ao diabo pra debochar os outros. Nós levamos uma vida surrealística de mistificações. Esta manhã ele me contou um episódio onde eu descobri incontinenti o self-made põem [sic]. Lá vai: Apresentação Na sala da redação do grande matutino O redator-secretário fez a apresentação: “Fulano, uma glória nacional.” “Sicrano, esperança do norte.” A esperança do norte não disse nada. A glória nacional também. 1
Quanto ao Recife, o poeta voltaria somente em 1927, após um período de trinta anos e quando completaria quarenta e um anos de idade. Entre a “Evocação” e o seu retorno são várias as menções na suas cartas a Ribeiro Couto de projetos de viagem que teriam sidos adiados. Mas, a cidade-infância reinstalara-se no poeta e combinava-se com o desejo de vida, 1 Uma curiosidade: note-se a semelhança de “Apresentação”, com “Política Literária”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em Alguma Poesia – Poemas (Belo Horizonte, Edições Pindorama, 1930): O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso o poeta federal tira ouro do nariz.
“Política Literária” é oferecido a Manuel Bandeira.
20 Revista Literal
de camaradagens e de criação poética tão pujantes e tão pungentes naquela década. Ela reaparece forte no seu “Profundamente”:
Não falo da Rua da União, mas ela está ali tão presente quanto na “Evocação do Recife”: Meu avô Minha avó Totônio Rodrigues Tomásia Rosa
Mas a referência ao passado não vira simples notação sentimental ou registro autocomplacente. Ela é um recurso penosamente consciente de fabricação lírica, em que o traço confessional anula-se, minimiza-se ou é ocultado pelo efeito poético maior desejado. É o que o poeta comunica a seu amigo Couto em uma carta de 5 de julho de 1927: “Eu sabia que você havia de gostar muito do ‘Profundamente’, mas como há sempre aquele imprevisto a que você se referiu, fui modesto. [...]. Fiquei satisfeitíssimo por ver que você o entendeu exatamente como eu quis e trabalhei para que o sentido fosse entendido: a impressão tranqüila e grandiosa da morte; o ciclo da vida. Foi precisamente a sensação formidável que eu recebi naquela noite quando de repente acordei no silêncio. Ah Ribeirinho Ribeirinho se de quinze em quinze dias eu fizesse uma coisa assim! Porque quando eu faço, passo uns dias vivendo de peito dilatado pela ozona daquela descarga elétrica. Como sempre tudo se organizou fulminantemente. Tive de corrigir alterar [sic], procurar até achar ‘as vozes daquele tempo’; precisavam ser vozes de afeto mas que não sugerissem nem de leve os meus lutos pessoais. (O luto dos avós tem um sorriso de aposentadoria com todos os vencimentos) Depois os avós datam. Escolhi a dedo Totônio Rodrigues, Tomásia. (Você terá sentido que era a velha cozinheira ex-escrava?) e Rosa, a mulata magra ama seca [sic, sem hífen]”. Como se vê, os “versos a pedido”, “encomendados como um pudim” vieram a ter vastas e profundas ressonâncias•
Evocação do Recife Manuel Bandeira
Recife Não a Veneza americana Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais Não o Recife dos Mascates Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois — Recife das revoluções libertárias Mas o Recife sem história nem literatura Recife sem mais nada Recife da minha infância A rua da União onde eu brincava de chicotequeimado e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras mexericos namoros risadas A gente brincava no meio da rua Os meninos gritavam: Coelho sai! Não sai! A distância as vozes macias das meninas politonavam: Roseira dá-me uma rosa Craveiro dá-me um botão
(Dessas rosas muita rosa Terá morrido em botão...) De repente nos longos da noite um sino Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio! Outra contrariava: São José! Totônio Rodrigues achava sempre que era são José. Os homens punham o chapéu saíam fumando E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo.
Rua da União... Como eram lindos os montes das ruas da minha infância Rua do Sol (Tenho medo que hoje se chame de dr. Fulano de Tal) Atrás de casa ficava a Rua da Saudade... ...onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora... ...onde se ia pescar escondido Capiberibe — Capiberibe Lá longe o sertãozinho de Caxangá Banheiros de palha Um dia eu vi uma moça nuinha no banho Fiquei parado o coração batendo Ela se riu Foi o meu primeiro alumbramento Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras
Novenas Cavalhadas E eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos Capiberibe — Capiberibe Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas Com o xale vistoso de pano da Costa E o vendedor de roletes de cana O de amendoim que se chamava midubim e não era torrado era cozido Me lembro de todos os pregões: Ovos frescos e baratos Dez ovos por uma pataca Foi há muito tempo... A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros Vinha da boca do povo na língua errada do povo Língua certa do povo Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil Ao passo que nós O que fazemos É macaquear A sintaxe lusíada A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem Terras que não sabia onde ficavam Recife... Rua da União... A casa de meu avô... Nunca pensei que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de eternidade Recife... Meu avô morto. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô.
Revista Literal 21
Reprodução
22 Revista Literal
ANDRÉA De Olho Neles DEL FUEGO Entre 2005 e 2007, Marcelino Freire apresentou semanalmente no Portal Literal, um novo escritor que então começava a publicar. Apareceram em sua coluna nomes como Ana Paula Maia, Vanessa Bárbara, Botika, Emílio Fraia, Douglas Diegues, Cecilia Giannetti, Chico Mattoso, e muitos outros. Entre as dezenas de colunas, escolhemos a com Andréa del Fuego, contista e romancista, vencedora do Prêmio José Saramago em 2011, com o romance Os Malaquias (Língua Geral, 2010) cuja origem ela comenta a seguir. Por Marcelino Freire Publicado originalmente em junho de 2005
Andréa Fátima dos Santos? Nada a ver, diz ela. Del Fuego é bem melhor. Tem mais fogo sonoro o pseudônimo dessa mineira nascida na cidade Carmo do Rio Claro. Hoje, radicada em São Paulo. – Foi por causa de uma coluna que eu tinha na revista da rádio 89FM. Em que falava de sexo, respondia aos leitores/ouvintes. A sogra dela foi quem sugeriu Andréa del Fuego. Em homenagem à Luz del Fuego – dançarina famosa nos anos 50 e que, na verdade, se chamava Dora. Eta danado! Lembro da imagem de Del Fuego, a Luz, fazendo uma cobra dançar no pescoço. Nuazinha – interpretada no cinema, aqui, pela Lucélia Santos.
Santos, a nossa Andréa, também já posou nua. E para a Playboy. O primeiro caso na nossa literatura em que a criatura começa posando e depois é que vira escritora. E das boas, diga-se. – Encontrei a minha turma. Refere-se a toda uma nova geração de escritores que acompanha, com entusiasmo, as suas páginas. – Na Playboy, foi uma página só e acabou. Na verdade, o convite da revista veio por causa de um livro erótico que seria escrito por três mulheres (e acabou não saindo). Del Fuego era uma delas. A foto, vale dizer, foi bem comportada. Close das três escritoras juntas, de pernas enclausuradas. Nada que lembre Tiazinha ou Carla Perez. Ou Maitê Proença, que agora escreve livros. Não confundir, faz o favor. Revista Literal 23
Explico: Andrea del Fuego é séria. Já se destaca em algumas importantes antologias, como a que reúne 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2005), organizada pelo prestigiado Luiz Ruffato. Sem contar, é claro, o primeiro livro que ela lançou em 2004. Os contos do Minto enquanto posso (O Nome da Rosa). Uma prosa cheia de referências mineiras. E de erotismo idem. A saber: nada escrachado. Nada ao vivo. Há uma sombra de poesia e melancolia no que Del Fuego escreve. Uma voz, sei lá, que aos poucos ela via maturando. Buscando. E que surpreendeu, por exemplo, o público que lotou o evento “Vozes da Prosa – Patifarias na Paulista”, em que ela leu, belamente, os dois contos que você pode conferir mais abaixo. – Agora preparo o meu primeiro romance, chamado Serra Morena. [NE. Acabou por se chamar Os Malaquias] Um romance rural, como ela mesma define. – Inspirado em um tio-avô meu que é anão. Anão? Personagem raro quando o assunto é ficção.
ELA POR ELA MESMA Nasci Áries, ascendente Áries, há 30 anos. Meu primeiro trabalho foi numa loja de sapato como vendedora, fui demitida em uma semana. Minha formação é técnica em publicidade e nada faço com isso. Invento desde menina – das anotações em cadernos às cartas para os parentes. Um dia a carta não saiu de casa, porque o remetente era desconhecido – o início da ficção. Aos 17 anos, fui estagiária de produção na Movi&Art. Quem dirigia os filmes por lá era Walter Salles Jr. Fiz muito cafezinho no filme Terra estrangeira. Dali, fui produzir elenco. Minha função era selecionar modelos e atores para comercias de refrigerante, cigarro, banco, cerveja. Enquanto pagava as contas, empilhava contos. Realizei o curta Morro da Garça, inspirado nas paisagens de Guimarães Rosa. O vídeo fez parte do Encontros com Guimarães Rosa. no 24 Revista Literal
Centro Cultural São Paulo (1996), ao lado de filmes de Nelson Pereira dos Santos. Foi um susto. Dirigi O beijo, exibido em festivais na Bahia e Tóquio, além de integrar o Festival Mix Brasil 2002. Depois veio Ela, curta baseado em meu conto “Línha contínua”. O trabalho é ainda inédito, está parado na finalização. Encantada com a representação, passei pelo teatro como assistente de direção de Dani Chao Hu nos espetáculos O Big Ben e Aquela Noite do Cachorro. Foi em 1998 que resolvi mostrar para alguém o que escrevia. Fui parar na Revista da Rádio 89FM, respondendo a dúvidas sexuais dos leitores. Foi nessa ocasião que o pseudônimo Andréa del Fuego caiu no meu colo. Daí vieram colaborações em sites e revistas como a inglesa Touch Magazine e, ultimamente, com a Vogue RG. E também tenho um blog, o www.delfuego.zip.net. [NE. Hoje é andreadelfuego.wordpress.com] Não sou filha de intelectuais, livro em casa nem o de receita. Eu não tinha referências da escrita enquanto produção. Não tinha um espelho digno desta função. Hoje, achei minha turma. Ando cercada pelos escritores que eu mais admiro. Escondo deles o quanto os amo que é para não ser boçal. Vou platônica ouvindo meus heróis e minhas heroínas nas suas batalhas ficcionais e me apaixono por cada linha deles. A literatura é platônica, porque quando fecho o livro, volto pro ordinário. Daí a gente, tribo querendo fogo, vai pro boteco fazer a cigana descer. A minha se chama Andréa Fátima. Chama que ela vem.
EU & ELA [Leia uma conversa entre mim e Andréa del Fuego]
Diz de sua estréia literária. Do seu livro Minto enquanto posso. Como você o lê hoje? Tinha muita ansiedade em publicar o primeiro livro. Ansiedade resolvida só com o objeto na estante. Publicar é ligar o motor do barco.
Faz um ano que ele foi lançado pela editora O Nome da Rosa. O livro não fez alarde, não vende e não é lido, de modo que me mantenho inédita. Hoje o leio com mais crítica, substituiria muitos contos que agora me chegam mais maduros. Isso de ter me exibido bruta me assusta, mas também não me aprisiona, pois não carrego expectiva nenhuma sobre mim, vou borboletando.
Há novo livro de contos? E o seu romance, o que é que é? Conte-me, idem, sobre o seu tio avô, que é anão, e mineirices outras. Há um livro de contos se formando. Em breve, terei um segundo volume. Também estou no meio de um romance rural, inspirado em meu tio-avô anão e arredores. Ele tem 82 anos. Duvido alguém aqui com um tio-avô anão e ancião ao mesmo tempo. É uma figura forte de minha infância. Lembro dele de chapéu de palha saindo do milharal com uma enxadinha, minha avó mulata com os biscoitos perfumados chamando pra comer, café fresco, janela pro vale. Eu tive um Sítio do Pica-Pau-Amarelo particular. É nessa figura do anão e dos entornos em que me inspiro. Na falsa quietude rural, nos desdobramentos do mistério, nos desastres naturais. O romance se chama “Serra Morena”. Está sendo um prazer escrevê-lo. [NE. Este é o enredo do premiado Os Malaquias] O que há de Minas Gerais e de caipira e de poesia no que você escreve? De Minas Gerais há tudo. Nasci em São Paulo, mas sou mineira de Carmo do Rio Claro. Dessa cidade tenho o cemitério na rua detrás, o chão vermelho de cimento queimado, vento batendo porta, silêncio largo, olhar manso. Tudo manso, até que alguém dê o bote. Tenho medo da poesia. No entanto, ela surge na minha prosa, intrusa. Ela é traiçoeira, depende de quem lê. Poesia exige um leitor especial. Quem a recebe precisa dar espaço, não pode ter resistência. A prosa tem mais tempo para seduzir, poesia vai ou racha.
E que história é essa de ter posado para a Playboy? Você é a primeira que eu conheço que posa e depois vira uma escritora das boas.
A Playboy foi uma foto de divulgação de um projeto pop com duas amigas. No fim, o projeto não foi adiante, mas a revista está no maleiro. Eu de chapinha e o beiço vermelho, uma chacrete. Adoro chacrete, mas não sou uma. Nessa época, eu ainda procurava minha turma. Agora estou no “seio” do que me faz evoluir na escrita. Nunca achei que houvesse uma turma que só discutisse literatura e nisso houvesse prazer. Ivana Arruda Leite [autora do livro de contos Falo de mulher, entre outros], que eu amo, divide comigo descobertas na prosa dela, reverberando em mim a constância na busca. Busco na mesa do bar o que eu buscava no tarô. A mesa branca, porque, quando meu povo se reúne, baixam os santos todos da nossa glória. Amém. Quais autores você lê, curte? Como foi sua viagem à França? O que você quer com o que escreve? E ufa! O que primeiro me fascinou foi Clarice Lispector, depois veio Machado de Assis, aquele assombro de narrativa, de elegância. Comecei a ler já marmanja, hoje tento recuperar o tempo perdido/ausente. Este ano estou lendo os franceses: Victor Hugo, Stendhal, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Flaubert, vendo o que eles têm para ensinar. E têm, é claro. Não fazer o que eles já fizeram, nunca. Minha escrita foi se apurando conforme fui lendo. Se começo um livro e ele não me proporciona desconforto, eu o abandono. Sem culpa. Fiz uma viagem de 3 meses a Paris que mexeu comigo. Vagava a esmo e sempre enroscava num vulto literário. No Panthéon, no túmulo de Victor Hugo e Voltaire, me ocorreu que, por mais que eu publique livros, a ansiedade não vai passar nunca. A gente não engessa a palavra nem com o livro. Andando por lá, descobri que, para eles, a grande arte literária é o romance. Poucos lêem contos. Contos são uma espécie de tira-gosto. Banquete é o longa-metragem, a viagem longa. Dei uma entrevista para a Radio France Internationale, falei da cena brasileira, do que entendo por ela: efervescente e indefinida. Revista Literal 25
Essa indefinição tira o sono do crítico. Essa incapacidade de nos etiquetar, tamanha é a precocidade na “catalogação” desse movimento que ainda explode. Nossa exaltação é a ponta do iceberg. Para terminar de responder, respondo: escrevendo eu quero contar histórias, não sei despejar memórias. Apesar disso ter efeito no leitor, efeito de espelho, quase de auto-ajuda, porque se solta por dentro quando se lê o outro soltar. Quero contar uma boa história, e só.
ELA & O TEXTO DELA [Leia dois contos de Andréa del Fuego]
[1] Os Amantes de Mamãe
Mamãe se apaixonou. Ela ama um cara, ele telefona e fica mudo. Mamãe resolveu terminar o caso, ele se angustiou, o amante. Mamãe tem medo de ser morta por ele, não pelo meu pai. Amante que perde para o marido tem certeza que perdeu foi nada. Por acaso se perde pra quem já perdeu? É o que ele pensa, é o que soluça no chuveiro enquanto mamãe tem cólica de rins, ela tem remorso nos quadris. Meu pai vai às terças ver Glorinha. Mamãe sente o cheiro de outra e se perdoa, ela adora perdão, pudesse vestia o penhoar de Nossa Senhora e dava perdão da janela. Ela vai ligar para o amante, ele não vai atender, ele bebeu até esquecer. Esquecido, se enamorou de uma solteira. Você é a cara do meu pai. O carnê em dia, a pontualidade na traição, sempre às quintas. Calcula as sobras e os zeros. Se perfuma, bebe umas pra ter coragem, bate o carro. Diz eu te amo com sinceridade de padre. Senhor, me tranque a rua que agora só se for pra valer. Pra valer só com o Giramundo, que é sem perdão e com hóstia de pimenta. O 26 Revista Literal
corpo da comunhão ardendo na língua, pregado no céu da boca. Quero um homem pra fazer dele um pai de seara, caboclo que defume minha casa com ervas do serrado. Você é a cara do meu pai, mas quero pra mim o amante de mamãe.
[2] Avon Meu nome é Agenor Sampaio, vou iniciar a palestra de forma clara e direta. Essa rede de cosméticos em que vocês todas trabalham como consultoras de beleza e que eu, muito satisfeito, presido, se fez existir por conta do que explanarei. Gostaria que as senhoras do fundo ficassem em silêncio, obrigado. Abro os trabalhos dizendo que a mulher bonita é mais amada que a feia. Já viram um homem diante de uma bela fêmea? É a falência de toda defesa. Não irão vê-lo igual diante de outra coisa. Ele pode, sim, se apaixonar por uma mais ou menos. Mas se a paixão é por uma linda, as pernas não respondem, a saliva engrossa, o sangue afina. O homem tem um ferrão incandescente, um bastão em brasa que vai sapecando a mulher até secar a vida dela. Pode ser filho, irmão, pai, amante. Não é o sexo, é um ferrão psicológico. Nas belas, o ferrão pode se esfriar, pois nela, na beleza, há um antídoto que eu chamo de Bacia de Mercúrio. Uma vez tendo o homem amornado o ferrão, a bonita se liberta. Já a feia não possui a Bacia de Mercúrio, mas um Pote de Maionese. O que de nada adianta. Em vez de amornar o ferrão, a maionese oxida, piorando as coisas. – Ele é médico?, sussurrou Clotilde, gerente de vendas, para Rosária, do atendimento ao consumidor. – Sei lá… mas onde fica essa Maionese? Vi esta empresa nascer para botar ruge nas faces: ruge de pétalas nas belas, ruge de vergonha nas feias.
Francamente, não vamos deixar mulher alguma mais bonita. A mulher feia menstrua, a bonita floreia. Feia escreve carta, bonita recebe. Eu mesmo já gostei de uma feia, nem se compara. Entendam, feias nascem, bonitas vêm à luz. Não será um batom vermelho que aumentará a carne dos lábios a ponto de deixá-los reais. Eis o ponto: a beleza é a realidade. As feias vão secando e as bonitas estão ameaçadas. Vejam, o sujeito atingido pela beleza – com medo inconsciente da Bacia de Mercúrio – se vê ameaçado e pode matar a bela. Ele mata porque precisa dar fim ao que não entende. Pois se nem a bela possui a própria beleza, que dirá seu observador. Só o espelho a possui em sua prata. A humanidade lá fora que se lixe. Para nosso conforto, sobram as lindas que se deixam fotografar, eternizar-se na prata dos filmes. Notem, sempre a prata. A lua é prateada e por isso feminina, tão feminina que movimenta as águas aqui embaixo. Mexe a água intracraniana. Olhem o alcance. – O que você está achando? – Se, de novo, esse cara chamar a gente de feia, eu telefono pro Oswaldo. Agora demonstrarei o que disse. Apaguem as luzes, por favor. Vejam este homem: os olhos dele, vêem as pupilas dilatadas? Nesse outro slide, num quadro maior, podemos ver para onde os olhos se dirigem: uma mulher bonita. Pupila dilatada só é possível tendo prazer, minha gente. O prazer está em tocar a miragem. Eu disse que a beleza é a realidade. Pois bem, a miragem é a realidade do deserto. Quem aqui não andou pelo dorso de uma duna de areia quente? Andaram sim, pela idade de vocês, andaram sim. Em sonho, minhas senhoras. O sonho é a tal miragem do deserto. Não tenho, antes que me peçam, a receita ou algum argumento que console as feias. Tenho apenas o aparelho sensitivo, esse que vocês também possuem: olhos, boca, ouvidos, tato e
olfato, tudo para as maravilhas. Não concordo com a política correta que dá espaço para os defeitos. Isso nada tem a ver com machismo, tampouco neurose pessoal. Está embasado no comportamento inalterável do ser humano. Os vossos companheiros não devem ser censurados no desejo pelo belo, esteja o belo em que face estiver. Nunca. Pode acontecer de, em vez de matar a bela, ele matar vocês que o impedem de dilatar as pupilas. – Vou lá fora tomar um ar, sussurrou Rosária. – Eu vou com você, seguiu Clotilde. Vocês duas, esperem. Vou concluir, sentem-se. Bonitas e feias estão perdidas. A bonita porque o sujeito tem medo da Bacia de Mercúrio; a feia, porque o Pote de Maionese azeda a vida dele. A salvação das feias é estar perto da bela, amá-la como se ama um filho – quando digo isso, me arrepio todo. A mulher bela é o ápice do amor. Homem que ama mulher feia é covarde, o pior deles. Homem em conformidade com o Alto se apressa no contato com o maior da Criação. Quando perde o medo da beleza, pode ele mesmo derrotar a Bacia de Mercúrio. Sapecar a bela, isso sim o objetivo maior de um ferrão incandescente. – Eu não fico aqui mais um minuto. Olhem lá, um Pote de Maionese saindo da sala. Um a menos. Se acham que vou explicar a fórmula dos novos cremes, isso não importa mais. Esta palestra nesse vale, neste final de semana que a empresa deu de presente, foi para fazê-las acreditarem mais em nossos produtos para, enfim, vendê-los melhor. Sairão daqui informadas quanto à própria feiúra e mediocridade. A beleza é meio, fim e recomeço. Não vou enganá-las: fico sem forças ao ver mulheres tão feias juntas umas das outras. Fossem vocês lindas e brilhantes e eu mesmo seria, aqui e agora, senhor deste mundo. Boa tarde a todas• Revista Literal 27
28 Revista Literal
No país do sol nascente A moderna literatura japonesa ganha força no Brasil, com traduções diretas de obras que mostram uma cultura dividida entre as pressões globais e tradições ancestrais. Por Giovanna Bartucci Publicado originalmente em abril de 2005
Há uma aproximação constante e vigorosa da literatura japonesa com o público brasileiro. Representantes máximos da literatura japonesa do século 20, Junichiro Tanizaki (18861965), Eiji Yoshikawa (1892-1962), Yasunari Kawabata (1899-1972), Yukio Mishima (19251970), Kenzaburo Oe (1935-) e ainda de Haruki Murakami (1949-), têm tido as suas obras traduzidas para o português, em sua maioria, direto do japonês. Contando com o subsídio do programa de apoio a traduções da Fundação Japão, o ano de 2005 promete ainda a publicação do romance Mil tsurus (1949-1952) e a reedição de Kyoto (1962), ambos de autoria de Kawabata, pela editora Estação Liberdade. Some-se a esses títulos ainda duas obras importantes de Murakami, Norwegian Wood (1987) – romance este que o alçou à condição de autor mais popular e influente do pós-guerra japonês e ícone da cultura pop – e Dance dance dance (1988), pelas editoras Objetiva e Estação Liberdade, respectivamente, também com lançamentos previstos para este ano. Se a resposta das sociedades ameaçadas por uma cultura global emergente se dá em um grau entre a aceitação e a rejeição, com posições intermediárias de coexistência e síntese, o lançamento de As irmãs Makioka (19431948), de Junichiro Tanizaki, pela Estação Liberdade (traduções de Leiko Gotoda, Kanami Hirai, Neide Nagae e Eliza Tashiro) vem atestar
que a oposição à ocidentalização do Japão está presente em muitas obras dos grandes nomes da literatura do país. Assim como a expressão literária oriunda dessas interações culturais, ela só viria a se manifestar, de forma clara, nos anos do pós-guerra. As irmãs Makioka, livro escrito nesta época e publicado originalmente em três volumes, e ainda censurado, retrata a sociedade japonesa durante os anos 1930 por meio de uma encenação dos costumes, da cultura e das relações sociais tradicionais. De fato, se o romance expõe os conflitos entre valores japoneses e ocidentais, assim como o impacto da modernização do país nas relações pessoais, também coube a Musashi (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda, 1999, 2 volumes) espelhar a realidade de uma época. Romance épico de autoria de Eiji Yoshikawa, Musashi fornece um relato da história e da vida do povo japonês durante o período em que viveu o mais famoso samurai do Japão, provavelmente entre os anos de 1584 e 1645. Equiparado por Edwin Reischauer ao livro ...E o vento levou (1936), de Margaret Mitchell, em seu prefácio à edição norte-america do épico, este romance foi publicado originalmente em forma de folhetim no jornal japonês Asahi Shimbu, entre 1935 e 1939. Vale salientar, como o faz o prefaciador, que “a comparação com o romance não é, de modo algum, forçada. A era dos samurais permanece ainda muito viva na mente Revista Literal 29
dos japoneses. Contrariando o estereótipo de ‘animal econômico’ de orientação coletiva do japonês moderno, muitos preferem se ver como modernos Musashis, ferozmente individualistas, de princípios elevados, autodisciplinados e esteticamente sensíveis. Ambos os quadros têm certo valor, ilustrando a complexidade da alma japonesa sob um exterior aparentemente afável e uniforme”. Com inúmeras edições em forma de livro, tema de diversas produções cinematográficas, encenado por diferentes vezes no teatro e transformado em minisséries televisionadas, Musashi narra a história de um personagem histórico. Assim, terá sido por meio do romance de Yoshikawa, um dos escritores mais populares do Japão, que o samurai e diversos personagens principais passaram a integrar o folclore vivo do país. “Para o leitor estrangeiro esse fato
entre homens e mulheres, a interação social, a psicologia, a história, a legislação, a prática comercial, ou seja, sobre estética e consciência da identidade cultural, tais como no Japão, findando por promover, assim, uma maior compreensão do país e seu povo. A obra literária que mais explicita as contradições presentes no que se refere a “ocidentalização” da cultura japonesa talvez seja a de Yukio Mishima, pseudônimo para Kimitake Hiraoka. Por três vezes indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, filho de um oficial do governo, Mishima nasceu em Tóquio, em 1925, em uma família permeada pelo “espírito dos samurai”: nobreza, veracidade, controle permanente da mente e do corpo e, acima de tudo, lealdade ao Imperador. Influenciado tanto pelos clássicos japoneses quanto pela literatura ocidental, a vida deste dramaturgo, ator e diretor, escritor prolífico de
A obra literária que mais explicita as contradições presentes na “ocidentalização” da cultura japonesa talvez seja a de Yukio Mishima contribui para tornar o romance ainda mais interessante, pois não só fornece uma porção romantizada da história japonesa, como também uma perspectiva de como os japoneses vêem a si mesmos e ao seu passado”, observa Reischauer. Acrescente-se ainda a esta rica literatura atualmente disponível, Gueixa (Objetiva, 1983, tradução de S. Duarte), obra caracterizada por sua autora, a antropóloga norte-americana especializada em cultura japonesa Liza Dalby, como uma etnografia – ou seja, um estudo descritivo dos costumes de um povo específico – que aborda em profundidade as gueixas em seu contexto cultural. Sem concebê-las como um microcosmo da sociedade japonesa, ainda que identificado pelos japoneses como “o mais japonês” dos grupos definíveis, para dizer algo sobre as gueixas a autora acaba falando sobre os costumes, as crenças religiosas, a vestimenta, a alimentação, a música, as relações 30 Revista Literal
contos, peças e ensaios era contemplada por meio da idéia de morte, posteriormente transmutada para um desejo ardente pelo trágico. Como constata Darci Kusano, em artigo publicado na revista Cult, “por não admitir o envelhecimento natural do corpo e influenciado pelo conceito de bunbu ryodô, o caminho combinado do erudito e do guerreiro (…) de que a excelência em ambas as artes, literária e militar, palavras e ação, só se dá no momento da morte, (Mishima) comete o seppuku em defesa da idéia cultural do imperador, a identidade nipônica perdida”. Com efeito, também Yasunari Kawabata, deprimido e desgastado pelo excesso de compromissos, cometeria o suicídio, em abril de 1972, dois anos após a realização do seppuku – o mais doloroso método de suicídio ao cortar-se o abdômen –, por seu amigo ultranacionalista Mishima, em protesto pela ocidentalização e constituição pacifista japonesa.
Yukio Mishima (1925-1970), por Loredano
Com diversos títulos publicados na década de 1980, pela extinta editora Brasiliense, os romances Confissões de uma máscara (tradução de Jaqueline Nabeta), Cores proibidas (tradução de Jefferson Teixeira) e Mar inquieto (tradução de Leiko Gotoda), editados originalmente em 1949, 1951 e 1954, respectivamente, e reeditados pela editora Companhia das Letras, mapeiam algumas das características romanescas de Mishima, seu veio autobiográfico e trágico e a sua extrema sensibilidade. Primeiro romance do escritor, Confissões... narra, em primeira pessoa e com riqueza de
elementos autobiográficos, a descoberta das inclinações homoeróticas do narrador e a seqüência de percalços que lhe é imposta. “E ali naquela casa, sem que ninguém dissesse ou mencionasse coisa alguma, cobravam-me que fosse um menino. Era o início de uma representação que não me agradava. Foi a partir dessa época que comecei a compreender vagamente o mecanismo segundo o qual o que parecia ser uma representação aos olhos das pessoas, era para mim expressão da necessidade de retornar a minha própria essência, ao passo que o que parecia a todos o meu jeito natural de ser era, na realidade, uma encenação.” Revista Literal 31
A dinâmica da encenação também será o movimento destrutivo que empresta ímpeto a Cores..., um romance excepcional. Contra o pano de fundo da vida noturna da Tóquio do pós-guerra, celebrado com a publicação de suas Obras completas no outono da carreira, Shunsuke Hinoki conhece Yuichi Minami, jovem e misógino estudante que os pais gostariam de ver casado com uma moça de boa família. Fazendo-se mentor do atraente Yuichi, o velho escritor transforma o rapaz em joguete numa trama de teor sádico, que tem como objetivo vingar a própria feiúra e a série de infortúnios amorosos por que passou, castigando as mulheres, em especial, ao mesmo tempo que encenando uma demonstração de sua visão amarga do conflito entre a arte e a vida. É verdade, enquanto Confissões... e Cores... são romances considerados representativos, de uma forma geral, da obra do escritor, alguns críticos vêem em Mar inquieto influências explícitas da literatura ocidental sofridas por Mishima, por meio da associação da trama à uma fábula grega, ou mesmo ao enredo de Romeu e Julieta, de Shakespeare. De corpo forte e alma reta, o jovem Shinji vive em perfeita harmonia o cotidiano de trabalho ditado pelos humores do mar, até o dia em que uma garota o desperta para sentimentos e inquietações que desconhece. Os amores difíceis de Shinji e Hatsue formam a corrente central de Mar... Simples como o modo de vida de seus personagens, os habitantes da pequena ilha de Utajima, a narrativa pouco se desvia de seu veio principal, ou seja, os percalços familiares e sociais que o jovem casal de amantes deve enfrentar, seja sob as feições oportunistas de um pretendente rival, seja sob a figura do pai da moça. Contra tudo e contra todos, eles dispõem apenas da própria determinação, logo posta à prova. É consenso que o vínculo literário e a relação de amizade que se estabeleceu entre Mishima e Kawabata, considerado o mentor de muitos da nova geração de escritores japoneses, dentre os quais o próprio Mishima, também se baseava na oposição de Kawabata ao que se refere a ocidentalização e particularmente a cul32 Revista Literal
turalização americana do Japão. Influenciado também tanto pela literatura oriental quanto pela literatura ocidental, na década de 1930, entretanto, Kawabata abandona as técnicas literárias de origem ocidental que então experimentava para voltar-se para a junbungaku, ao pautar-se pelos cânones e pela estética formal preconizada pela “literatura pura” japonesa. Membro da Academia de Arte do Japão, em 1953, presidente do Clube dos Escritores (Pen Club) quatro anos depois, agraciado, em 1959, com a medalha Goethe em Frankfurt, Alemanha, professor convidado em universidades americanas na década de 1960, Kawabata recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1968, “pelo domínio de sua narrativa, expressando com admirável sensibilidade o espírito japonês”. Romancista, escritor de pequenas novelas, ensaísta e crítico literário, com uma obra marcada por uma fascinação pelo mundo feminino, pela sexualidade humana e permeada pelo erotismo, beleza e delicadeza, pelos temas da transitoriedade, da morte e fatalidade, tornou-se consenso de crítica que Kawabata também descreve com precisão as profundezas da alma feminina. Considerada uma de suas obras mais importantes, No país das neves (Estação Liberdade, tradução de Neide Nagae), romance cuja primeira versão teria sido publicada em 1937, sendo finalmente concluído em 1947, retrata a busca de Shimamura, um intelectual de posses, por uma linda e etérea flor silvestre. Em sua procura, entretanto, Shimamura encontra Kokako, gueixa das montanhas. Entre Yoko, jovem provinciana, Kokako, e Shimamura, constrói-se, afinal, um velado triângulo amoroso por meio do qual Kawabata desenvolve o tema do amor sem esperança de retribuição, uma vez que tanto Kokako quanto Shimamura têm conhecimento de que sua relação não tem futuro. Também Beleza e tristeza (Globo, tradução de Alexandre Martins), último romance de Kawabata, publicado em 1965, narra a busca de Oki Toshio, renomado escritor de meia-idade, que retorna a Kyoto às vésperas do Ano-Novo para ouvir os sinos dos templos budistas soa-
rem, como manda a tradição japonesa. Toshio também é movido por um desejo secreto: o de reencontrar Otoko, uma antiga amante, atualmente uma pintora consagrada. Contudo, Otoko tem uma jovem aluna, Keiko, que, ciente do término trágico do romance, decide vingar a mestra. Será, então, em torno desses três personagens trágicos que Kawabata irá tecer uma reflexão acerca do amor sublimado por meio da arte e da literatura. Publicado originalmente em 1962, Kyoto (Abril Cultural, tradução portuguesa de Vírgilio Martinho) pode ser considerado o mais emblemático de seus romances. A própria cidade se constituindo como um personagem, com seus templos, dança e música tradicionais, a arte do chá, festas seculares que proporcionam a cadência cotidiana da vida, Chieko, sua personagem principal, uma jovem que trabalha na loja de tecidos de seus pais,
escritores de sua geração, em duas fases, a da juventude, revelando influência marcante da literatura ocidental, e a da maturidade, na qual o autor se deixa absorver pela cultura de seu país, abandonando a inclinação ocidentalizante. Entretanto, ainda que Tanizaki tenha se debruçado sobre o tema do conflito entre as culturas tradicional e moderna, e sobre o tema da ocidentalização da cultura japonesa, o que irá distinguir a obra do escritor da de seus colegas é o fato de que Tanizaki não tinha influência do cristianismo e suas normas morais. Assim, não há, em seus livros, a presença da oposição cristã entre corpo e alma. A carne, de fato, não é pecaminosa e a sexualidade não é obra do diabo, conceito este desconhecido do universo budista. Com efeito, a obra de um dos autores centrais da literatura japonesa do século XX se caracteriza justamente por descrever as diversas variações do amor sexual de forma completa e
terá que encontrar uma forma para não a ver falir, assim como se passara a tantas outras lojas tradicionais da antiga capital japonesa, em razão da mudança dos valores culturais. A tranqüilidade de Chieko, no entanto, só será restabelecida quando, pela primeira vez, trava conhecimento com a irmã gêmea da qual havia sido separada ao nascer, e cuja existência até então ignorava. O fato é que o tema do desejo, em sua veia ora transgressiva, ora contida, presente de forma explícita e constante nas obras tanto de Mishima quanto de Kawabata e Tanizaki, se constitue no cerne da literatura destes autores. Tendo estudado literatura japonesa na Universidade Imperial de Tóquio, experiência esta que foi interrompida por falta de pagamento das mensalidades, a produção de Jun’ichiro Tanizaki está dividida, assim como a de muitos
sem julgamentos morais. Ainda assim, seja nos romances Amor insensato, de 1924 (tradução de Jefferson Teixeira), Há quem prefira urtigas, de 1928 (tradução de Leiko Gotoda), Voragem, de 1931 (tradução de Leiko Gotoda), ou ainda no romance A chave, de 1956 (tradução de Jefferson Teixeira), a presença do erotismo é frequentemente associada à idéia de limite, de fronteira tornada, então, destrutiva. Diário de um velho louco (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda), uma das últimas obras de Tanizaki, publicada em 1961, antes de sua morte, apresenta inegável parentesco com A casa das belas adormecidas (Estação Liberdade, tradução de Meiko Shimon), obra de Kawabata publicada em 1960. Entre as duas há, entretanto, uma distinção importante. Enquanto Diário… retrata a construção lenta e gradual de um jogo de poder que envolve o pa-
Enquanto a obra de Murakami é profundamente marcada pelo Japão cosmopolita, Oe faz parte de uma geração marcada pela Guerra e pela descaracterização do Japão tradicionalista
Revista Literal 33
Kenzaburo Oe (1935-), por Loredano
triarca de 77 anos da família Utsugi e sua nora, a bela Satsuko, uma ex-dançarina de casas noturnas que faz uso de seus talentos femininos para fascinar, controlar e manipular o sogro, A casa… conta a vivência de Eguchi, um senhor de 67 anos que freqüenta uma espécie de bordel no qual tem a possibilidade de experimentar a exploração sensorial do corpo feminino oferecido em estado de torpor controlado, sob o efeito de narcóticos. Entretanto, haveria algo mais deplorável do que um velho que se deita ao lado de uma jovem adormecida que não acorda a noite inteira? Acaso não teria Eguchi ido àquela casa à procura dessa extrema miséria da velhice? Ainda assim, essas garotas pareceriam ser “a própria vida” para os colegas de Eguchi, que lá iam “sempre que o desespero de envelhecer se tornava insuportável”. Confrontado com a virgindade das jovens, podendo tocá-las apenas, Eguchi inicia uma via34 Revista Literal
gem delicada por meio da qual procura alcançar serenidade de espírito. Nessa medida, enquanto o velho Eguchi resgatará um tempo ido por meio da repressão do desejo, do autocontrole, será a posição de quem não tem muito a perder, acrescida da consciência da aproximação da morte, que fará com que o patriarca Utsugi rompa com as convenções sociais, entregando-se a exaltação de seus prazeres hedonistas. Assim, comprovadamente intimista e centrado na sensualidade, seja por meio de relações amorosas que põem em cena um confronto de gerações e de costumes, ou por meio de personagens que corrompem e se deixam corromper, a sedução irá se consolidar, contudo, como crueldade, no universo literário de Tanizaki. Desde o final da Segunda Grande Guerra, é fato que a sociedade japonesa vem passando por mudanças contínuas. As obras de Kenzaburo Oe e Huraki Murakami, ambos re-
presentantes máximos da literatura japonesa contemporânea, apresentam, contudo, características distintas. Segundo escritor japonês a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1994, “pela força poética ao serviço de um mundo imaginado, onde a vida e o mito co-existem para integrar uma desconcertante pintura do ser humano hoje”, Kenzaburo Oe é considerado o primeiro escritor japonês verdadeiramente moderno. Enquanto a obra de Murakami é profundamente marcada pelo Japão cosmopolita, Oe faz parte de uma geração que foi marcada pela Guerra e pela descaracterização do Japão tradicionalista. Pertencendo a uma família de ricos proprietários que perdeu a maior parte de suas terras com a ocupação, as obras de Oe expressam a desilusão e a rebeldia da geração do pós-guerra. De fato, seus heróis agem com profundo sentido de hostilidade e rebelião, ou percorrem ainda os caminhos transgressivos do desejo. De forma geral, a obra de Oe também se divide em duas grandes vertentes. Escritor politizado, seus primeiros trabalhos expressam o sentimento de degradação e humilhação ocasionado pela capitulação do Japão no final da Segunda Grande Guerra, acrescido dos conflitos vividos pelos habitantes de um país ainda agrário e tradicionalista, mergulhado em seus mitos e rituais, afinal confrontado com a vida das cidades. O grito silencioso, romance de 1967 (Abril Cultural, tradução de Sergio Ryff ), seria um bom exemplo desse veio. Caracterizando a outra vertente da literatura de Oe, escrito após o nascimento de seu primeiro filho, Uma questão pessoal, de 1964 (Companhia Das Letras, tradução de Shintaro Hayashi), um dos mais aclamados romances do Japão contemporâneo, trata da luta de um jovem pai para aceitar o nascimento de seu filho mongolóide. Vale lembrar, contudo, que, se este foi o motor de muitos de seus trabalhos, os temas de Oe não deixaram de ser metáforas da condição humana contemporânea. Buscando romper o isolamento cultural por meio de referências globalizantes, ainda que criticado pelos adeptos do establishment literário japonês, Haruki Murakami tem pro-
duzido romances profundamente criativos e desconcertantes. Nascido em Kobe, em 1949, estudou Arte Dramática pela Faculdade de Letras da Universidade de Waseda, antes de ser proprietário, com a esposa, de um bar de jazz em Tóquio, ente 1974 e 1981. Como sugere Jefferson Teixeira, em artigo também publicado na Cult, um dos tradutores de suas obras para a língua portuguesa, “o movimento estudantil de final dos anos 1960, quando lá estudava, assim como a incipiente contracultura no país, teve profunda influência sobre sua obra, na medida em que representou a primeira exposição de sua geração ao vazio de ideias em uma sociedade voltada para o grupo em detrimento do indivíduo e à total submissão, sem questionamentos, às exigências sociais”. Em 1979, Murakami publicou o seu primeiro romance, Ouvindo o vento cantar, pelo qual foi agraciado com o Prêmio Literário Gunzo. A premiação de Caçando carneiros (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda), seu terceiro romance, em 1982, com o Prêmio Noma para Novos Autores, possibilitou que Murakami passasse a se dedicar exclusivamente a literatura. Murakami também é tradutor de F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, Paul Theroux, John Irving e Raymond Carver, dentre outros escritores americanos contemporâneos, além de ter se dedicado ao ensino de literatura em universidades estrangeiras. Se Caçando carneiros, um romance híbrido de mitologia e mistério, é considerado uma crítica social, Minha querida Sputnik, romance publicado em 2001 (Objetiva, tradução de Ana Luiza Borges), também trata da busca por uma identidade, mas, neste caso, por meio da vivência de um grande amor. Essa busca permanente parece ter, de fato, subvertido os parâmetros da “pura literatura japonesa”. O que estes autores, afinal, nos proporcionam, por meio de uma viagem literária ao país do sol nascente, é um rico e profundo mergulho do qual todos saímos transformados• Giovanna Bartucci é psicanalista e ensaísta. Doutora em Teoria Psicanalítica, é autora, dentre outros, de Borges: a realidade da construção.
Revista Literal 35
Fã de fanfiction À margem e, ao mesmo tempo, totalmente envolvida com a indústria cultural, um novo tipo de literatura encontrou na internet o espaço perfeito para proliferar. Se você só lê livros em papel, é bem capaz de nunca ter ouvido falar dela. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em setembro de 2005
Os números impressionam. Você digita fanfiction no Google e em menos de um segundo o buscador lhe devolve 701.000 páginas [NE. Sete anos depois e a busca chega a impressionantes 84 milhões e 100 mil páginas!]. Aí você pesquisa somente nas páginas do Brasil e aparecem 9.530, o que já facilita um pouco para quem ouse se debruçar sobre esse universo que ganha mais e mais adeptos e já foi até tema de um livro acadêmico [NE. Hoje, com 584 mil páginas, não facilita mais...]. Mas afinal, o que é fanfiction, fenômeno literário que se prolifera indiscriminadamente pela internet, à margem da indústria cultural? A origem situa-se ainda no final dos anos 1960, com os fãs de Jornada nas estrelas e, na década seguinte, com a série de George Lucas, Guerra nas estrelas. As comunidades de fãs (fandom) começaram a criar continuações e histórias paralelas inspiradas em seus ídolos preferidos, publicavam em fanzines e apresentavam estas histórias em reuniões esporádicas. A mania encontrou na internet o melhor suporte para proliferar e hoje, se best-sellers comandam a cena da fanfiction (Harry Potter e Senhor dos anéis principalmente), é possível encontrar quem se dedique a continuar as obras de Shakespeare, Charles Dickens e Agatha Christie. Uma aluna despertou o interesse de Maria Lucia Bandeira Vargas sobre o tema, e a professora decidiu investigar o fenômeno em sua dissertação de mestrado em Letras, pela Universidade de Passo Fundo, publicado no livro O fenômeno fanfiction: novas leituras e escrituras em meio eletrônico (UPF Editora, 2005). Segun36 Revista Literal
do ela, a fanfiction invadiu o Brasil no rastro do fenômeno do bruxo criado por J.K. Rowling. “Pelo que pude compreender no meu estudo, os fãs de Harry Potter pertencentes a certa camada da classe média (com acesso a internet e cursos de inglês), naturalmente utilizaram a rede em busca de mais novidades sobre o assunto e tropeçaram nas fics em língua inglesa. Eles se interessaram pela prática e passaram a desenvolvê-la em português.” O que chamou a atenção da pesquisadora foi o fato de que a maioria dos autores e leitores de fics (como são conhecidas as estórias criadas pelos fãs) é formada por mulheres jovens e adolescentes, algo que ela pretende investigar, possivelmente no doutorado. Além disso, ela se interessou ainda pelas fics de conteúdo erótico, muitas vezes, homossexual. Rowling não gosta muito de ver seu bruxinho crescido envolvido em romances com seus amigos, mas também seria algo arriscado enfrentar os fãs e tomar medidas legais contra os autores de histórias slash (que trazem cenas de homossexualismo), inclusive nas fanfics escritas em português. As corporações mostram-se receosas em enfrentar os maiores responsáveis pelos lucros de seus blockbusters. Até porque os escritores de fanfics argumentam que seu trabalho funciona como promoção gratuita, e eles mesmos não lucram nada com as histórias. Mais do que tolerar, há empresas que as estimulam, como a Paramount, que permitiu a publicação de duas séries de antologias de fanfics de Jornada nas estrelas, selecionadas em concurso. Outro caso é o da Lucasfilm que estimula a produção de filmes pelos
fãs e disponibilizou uma pequena biblioteca com efeitos sonoros. Muitos escritores não lêem as fanfictions, ironicamente com medo de não serem acusados de roubar as idéias de seus fãs, mas não deixam de encorajá-los. Mas há também os que são contra, como a escritora Anne Rice, autora de Entrevista com o vampiro (1976), que proíbe qualquer utilização de seus personagens e de sua obra. A justificativa é, além de proteger seus direitos autorais, prevenir qualquer diluição, saturação ou distorção do universo e das pessoas retratados em seus livros. Se esta prática pode levar os autores de fanfics a desenvolverem textos inéditos e originais, ainda é cedo para afirmar, mas, segundo Maria Lúcia, vários autores manifestaram o desejo de se tornarem escritores um dia e encaram as fics como uma espécie de “treinamento” para chegarem lá. Mas como toda novidade, as fanfictions também enfrentam preconceitos. Há quem veja ali uma arte menor, uma replicação a mais dos tentáculos da cultura de massa, um balaio de gatos. “De maneira geral, por construir suas histórias tendo como base um produto considerado de mau gosto, vulgar, ou no mínimo, menos sofisticado, o autor de fanfiction pode se sentir compelido a não divulgar seu trabalho fora do fandom onde é reconhecido, nem mesmo dentro dos meios escolares, para não correr o risco de ser acusado de mau gosto. Isso acontece porque os textos que servem de base para essas recriações, geralmente pertencem à cultura de massa, cujo conteúdo não é sancionado pelos meios escolares, embora seja consumida, de forma muitas vezes acrítica por toda a comunidade escolar, cotidianamente”, afirma a pesquisadora. Outros críticos implicam com a linguagem que vem surgindo com a internet, que estaria mutilando a norma culta, mas isso não diz respeito às fanfictions, que procuram respeitar as normas e conta com revisores de gramática, estilo e adequação do texto aos detalhes da obra original. “A linguagem das fics difere daquela utilizada em alguns blogs, no SMS ou em salas de chat. Há uma preocupação com a correção da linguagem, com a qualidade da trama e com a caracterização dos personagens que é rara fora
do contexto escolar, por isso, a existência dos beta-readers, revisores de texto tanto do ponto de vista da estrutura, como da qualidade literária. O curioso é que esses revisores são voluntários e, muitas vezes, adolescentes que usam de suas horas de lazer para ajudar a aprimorar os textos de outros jovens”, afirma Maria Lúcia. Produto derivado da cultura de massa ou não, o certo é que não é nada desprezível o alcance das fanfictions e, de qualquer maneira, volta-se a priorizar a leitura e a escrita em um meio que seria dispersivo como a internet. Mas que seria interessante ver por aqui o mesmo que já acontece lá fora, com histórias derivadas de Shakespeare, Charles Dickens, HG Wells, Scott Fitzgerald, Agatha Christie, George Orwell, Jane Austen e companhia, isso seria. Maria Lúcia afirma que ainda não encontrou textos inspirados em nossos literatos, mas quem sabe um dia. “Fics sobre Dom Casmurro, por exemplo? Bem que eu gostaria de ler o ponto de vista de Capitu…”• A proliferação das fanfictions acabou por derivar em outro gênero, os mashups literários, que juntam clássicos em domínio público – e portanto sem o risco de processos – com literatura fantástica. Começou com Jane Austen e zumbis e chegou ao Brasil com a coleção Clássicos Fantásticos, publicada pela Lua de Papel/LeYa. Dom Casmurro e os discos voadores e Escrava Isaura e o vampiro foram alguns dos títulos publicados em 2010. Mas há quem veja aí um mero oportunismo, como o escritor Sérgio Rodrigues, que na época comentou que “foi bem divertido quando surgiu, como são divertidas as piadas quando surgem. O problema é essa impressão de que não somos capazes de mercadejar adequadamente piadas de nossa própria lavra. O problema é essa falta de imaginação”. É, pode ser. Enquanto isso, as fanfictions seguem se multiplicando e autores como George Martin, reclamando. (BD)
Revista Literal 37
Pirataria ou democratização? Se os livros forem distribuídos gratuitamente, quem vai remunerar o autor, o tradutor, o editor? A questão é levantada pelos diretores da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), Mauro Koogan Lorch e Jackson Alves de Oliveira. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em março de 2005
A Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) voltou ao noticiário em junho de 2012 ao solicitar e conseguir a retirada do site Livro de Humanas do ar. Criado por estudantes universitários, o site disponibilizava obras na íntegra, sobretudo livros de Ciências Humanas em geral, mas também ficção. Muitas desrepeitavam os direitos autorais. Porém, havia muitas obras disponibilizadas com autorização de autores e editoras. A Editora Contexto, por exemplo, não solicitou a retirada do site do ar, mas foi elencada na ação que acabou por derrubar o site. Seu diretor e sócio-fundador, Jaime Pinksy, não gostou da atitude da ABDR e desfiliou a editora. “Assim que eu soube do problema, pedi para que comunicassem à ABDR que não concordávamos com a solicitação da saída do site do ar, se é que esta foi feita pela entidade. Pedimos, então, que o nome da Editora Contexto fosse retirado da ação. O advogado da ABDR comunicou que isso não era uma coisa fácil, por motivos de caráter burocrático. Solicitei, pois, que providenciássemos nossa desfiliação da ABDR”, disse Pinsky em comunicado na época. Questão delicada e que envolve diversos questões, ela se torna mais e mais urgente com 38 Revista Literal
o crescimento da participação dos livros e leitores digitais no mercado editorial brasileiro. Não se discute os direitos de autores e editores. Mas não se pode, em nome deles, proibir a circulação autorizada de obras liberadas por autores e editoras que entendem que, ao lado de uma remuneração justa, está a importância da leitura e da formação na educação de um povo, sobretudo em um país tão defasado na questão como o nosso. Os grupos tecnosubversivos que disponibilizam livros na internet questionam a lógica “cópia pirateada = cópia não vendida”. E dão exemplos de livros que até aumentaram suas vendas depois de oferecidos gratuitamente. Isso funciona? Jackson Alves de Oliveira. Na área didática, isso não é verdadeiro. Esses grupos estão se referindo a romances, que têm, no Brasil, mais de 150 milhões de possíveis compradores. O livro universitário tem um mercado restrito: alguns mil estudantes. Quando falamos na pirataria, falamos na pirataria do livro didático. Você não vê o Código da Vinci sendo pirateado. Seu comprador vai à livraria e compra um exemplar porque quer comprar. Há uma grande diferença.
Mauro Koogan Lorch. Também existe uma diferença entre a promoção de um livro didático e de um romance. O livro didático é feito para um curso específico. As editoras didáticas devem fazer com que o professor que vai lecionar aquele curso saiba que o livro existe, e receba um exemplar para analisar. A promoção de um romance é feita por meio do boca-a-boca, pela resenha do jornal. Uma parte do dinheiro que é gasto nessa promoção pode ser usada oferecendo acesso gratuito na internet. Com isso você está aumentando o seu boca-a-boca, expondo seu livro.
O que os senhores pensam sobre o copyleft, que, ao invés de ser um obstáculo para a reprodução, se torna uma garantia da reprodução? Mauro. Se um autor deixa que sua obra seja copiada, tudo bem. Nós não somos contra. [NE. Não foi a atitude adotada pela associação no caso do site Livro de Humanas, em 2012] Mas é preciso entender a economia do mercado editorial. A editora precisa ser remunerada para publicar tanto os livros que vende hoje como os livros que venderá amanhã. O autor também deve ser remunerado por seu trabalho para continuar produzindo. Existem áreas universitárias em que ninguém quer escrever. Você chega para um autor e pergunta se não quer produzir um livro de introdução à sociologia. Ele diz: “Não. Meu livro não vai ser vendido, vai ser copiado”. Ele não quer gastar seu tempo à toa. Se duvidar, daqui a algum tempo ninguém mais querer escrever um livro didático. Mas não se pode ignorar que estes movimentos promovem a democratização da informação e da cultura. A flexibilização dos direitos autorais não seria o melhor caminho? Mauro. Tudo que democratiza é bom. Mas é preciso ver como isso está sendo feito. A proposta que existe hoje na mesa é: “Olha, vamos dar tudo de graça”. É a mesma coisa que dizer: “Você não acha que todo mundo deveria ter um carro para se locomover?” Sim, eu acho. Mas isso é viável?
Provavelmente não, porque as cidades ficariam insuportáveis. O que se precisa é transporte público de qualidade. Mas o que isso tem a ver com o mercado editorial? Mauro. Se precisamos de transporte público, então ele deve ser gratuito, não é verdade? Mas isso é viável? Quem ia pagar o ônibus, quem ia pagar o metrô?
Gratuito não, a um preço acessível. Mauro. Isso nós estamos de acordo. Mas qual é a proposta? A proposta deles é dar tudo de graça, isso não é uma proposta.
É democratizar o acesso a informação. Mauro. Mas isso não é uma proposta. É a mesma coisa que eu dizer: “Olha, o governo tem que dar grátis passagem de ônibus para todo mundo”. E, dado pelo governo, nada é grátis, a população vai pagar de alguma forma. Piratear não é democratizar o livro. É o fim da informação, porque ninguém vai querer escrever, ninguém vai querer editar. Precisamos tomar cuidado quando usamos palavras como democratização. Tem que haver democratização, sim, informação grátis, sim, mas dentro de um modelo que garanta a continuidade da informação, a continuidade da cultura. Jackson. O pirata não é democrático, porque ele só reproduz aqueles livros que são adotados, que vendem, porque a editora fez um trabalho de promoção. Ele só quer o filé mignon. Então que democratização é esta? Mauro. Deve haver uma remuneração para quem escreve, assim como para quem edita esse trabalho. O que significa editar? Fazer uma seleção, melhorar o texto original, revisar, promover, distribuir. Hoje quase 50% do preço de capa é consumido pela distribuição. Ora, se você põe o mesmo texto na internet e consegue baixar esse custo de 50% para 10%, poderá oferecer um preço melhor. Nós não estamos aqui dizendo: “Esse é o nosso negócio, não queremos mudar nada”. O mercado está mudando. Mas é preciso manter uma estrutura que viabilize a continuação do fluxo de informação. Revista Literal 39
Quando o copyright foi introduzido, há três séculos, não existia nenhuma possibilidade de cópia privada ou de reprodução sem fins de lucrativos, porque só um editor concorrente tinha acesso às máquinas tipográficas. Hoje a situação mudou drasticamente, o público tem acesso ao maquinário (computador, fotocopiadoras etc.). Como lidar com isso? Mauro. Isso me lembra a primeira vez em que meu filho precisou fazer um projeto para a escola e foi usar a internet. Ele me disse: “Pai, eu escrevi floresta amazônica e apareceram 10 mil textos, o que eu faço?” E eu respondi: “Procura um editor, meu filho”. O editor é remunerado por uma função. Não é um empresário que está simplesmente procurando lucro vendendo uma coisa que os outros podem ter de forma mais barata. Hoje todo mundo pode copiar um livro, mas esta pessoa só copiará a parte industrial do livro. E o trabalho que o editor fez? Isso o pirata já recebeu pronto.
A ABDR afirma que a pirataria editorial constitui crime contra os autores, tradutores, revisores, além de ofender a noção de cidadania. Não seria também ofender esta noção de cidadania impedir a circulação do conhecimento, indispensável para a própria formação desse sentido? Jackson. No momento em que uma editora lança um livro já está contribuindo para a circulação do conhecimento. Mauro. Tudo isso é subjetivo. Da mesma forma que tem gente que não pode comprar carro, não pode comprar remédio, não pode comprar comida, tem gente que não pode comprar livro. Quem não pode comprar remédio fica na fila do INSS, quem não pode comprar livro deve ficar na fila da biblioteca. Certamente nós temos um problema no Brasil: as bibliotecas são péssimas. Então vamos criar as condições para que as bibliotecas melhorem e dêem acesso a esse leitor.
No site da ABDR, há a seguinte afirmação: “A continuar a pirataria, a cópia e a contrafação, perdem a educação e a cultura, o usuário e o estudante, perde a indústria, perde o País”. Como a educação e a cultura podem perder com a pirataria se elas advêm, sobretudo da leitura, independente de ser uma obra original ou não? Mauro. Se você disser: “Tudo que está escrito é livre para ser copiado”, os autores não vão ter mais incentivo para escrever. Os editores não vão mais editar. Então perde a cultura, perde a educação.
Até 2004, a ABDR dava autorização para reproduções parciais. Por que acabou com esta prática? Mauro. Porque a autorização para a reprodução parcial era dada mediante um recolhimento de direitos autorais, só que nós não tínhamos infra-estrutura para garantir que isso fosse feito. A ABDR, na gestão anterior, dava autorização para certas firmas de reprografia reproduzirem até um xis por cento do livro e recolher direitos autorais. O que acontecia? Eles reproduziam, mas não recolhiam. Como nós não temos, no momento, como fazer essa
“Hoje todo mundo pode copiar um livro, mas só copiará a parte industrial do livro. E o trabalho que o editor fez? Isso o pirata já recebeu pronto”, diz Mauro Koogan Lorch
40 Revista Literal
verificação, desautorizamos esta prática. Várias editoras já têm programas específicos para disponibilizar partes de livros. Por exemplo, editoras de livros jurídicos, que vendem páginas ou capítulos.
verdade, esse livro é baratíssimo. Realmente, os livros médicos são mais caros, têm tiragens menores, são mais especializados, geralmente têm capa dura, quatro cores, mas o grosso da diferença mesmo está aqui dentro.
Há livros de medicina que chegam a custar mais de R$ 1.000. Por que um livro chega a esse valor exorbitante? Mauro. Muitos livros de medicina são mais baratos por palavra do que livros de literatura. Você pega esse livro [mostra um livro de medicina, de 28 cm de largura por 21 cm de altura] que parece fino, mas aqui têm 1.266 páginas, duas colunas, no mínimo quatro laudas por página. E, se você pegar esse livro e comparar com o Código da Vinci, verá que é muito mais barato por palavra. Acontece que são 1.266 páginas e esse é o volume um. O volume dois tem mais 1.266 páginas. Quando você pega esse livro e vê que ele custa R$ 400, vai reclamar: “Quatrocentos reais?” Sim, mas são 2.500 páginas. São, tranqüilamente, dez Código da Vinci. Na
Com os programas de troca de música, a indústria fonográfica está definhando, suas vendas têm diminuído ano a ano. Isso começou porque, quando surgiu o Napster, em vez de negociar, a indústria resolveu apelar à Justiça. O próprio Napster hoje cobra para baixar música, mas surgiram dezenas de programas similares gratuitos. Com o livro isso é diferente, ainda não se tem a tecnologia ideal [NE. Estávamos então em 2005. O Kindle, da Amazon, foi lançado em novembro de 2007; o iPad, da Apple, em janeiro de 2010]. Mas os senhores não vêm riscos para a indústria editorial a médio ou longo prazo? O que pode ser tirado do exemplo da indústria fonográfica? Jackson. Nosso primeiro trabalho foi o de orientação, de informação, de negociação. Nós só partimos para a segunda etapa, que é a repressão, depois que essa primeira etapa não surtiu efeito. Sentar à mesa para conversar, isso foi feito. Quando a diretoria antiga da ABDR tinha contato com os piratas autorizando reproduzir parte do livro, eles reproduziam até o livro inteiro. Não honravam o que havia sido combinado. A primeira parte foi orientar, a segunda foi reprimir. E a terceira parte será econômica, quando diminuir o número de livros pirateados e nós pudermos aumentar a tiragem.
Muitas vezes um pesquisador quer publicar um livro não para ganhar dinheiro, mas para difundir suas idéias. Não seria uma contribuição com a educação do país fazer isso de maneira gratuita, ainda mais para os que tiveram os estudos financiados pelo governo em instituições públicas? Mauro. Todo mundo que quer publicar uma obra gratuitamente deve fazê-lo, essa é a forma da democratização. A questão é o seguinte: nem tudo que se publica é bom. As revistas científicas recebem centenas de artigos de professores que precisam publicar, porque o professor recebe uma gratificação por produtividade. Mas muita coisa não dá para publicar. Esse trabalho de seleção o editor de livros também faz. Claro, se esse professor não conseguir ser publicado na revista, ele pode criar um site e publicar lá. Mas isso não quer dizer que ele será lido.
Livro é caro por que é pirateado, ou é pirateado por que é caro? Mauro. Acho que o livro não é caro, o cidadão brasileiro é que não valoriza a educação. E muitas vezes não tem condição, infelizmente, de adquirir o livro. Se você comparar o que emprega na sua educação com o que vai lucrar no futuro, verá que qualquer coisa é barata.
Revista Literal 41
Mauro. Se, no momento em que surgiu o problema, a indústria fonográfica tivesse dito: “Podem mandar brasa, copiem tudo”, suas vendas teriam definhado de qualquer maneira. Agora até o Napster está cobrando, como você mesmo falou. No futuro, teremos acesso a músicas mais baratas, mas respeitando o direito autoral. Nos sites que você paga por música, todo mundo da cadeia está recebendo. Inicialmente a indústria fonográfica reprimiu porque não havia, economicamente, uma estrutura que viabilizasse a coisa. Nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil [NE. entre 2003 e 2008], disse há pouco tempo: “Eu não me incomodo que as minhas músicas sejam baixadas”
fizemos no Rio uma vez e duas vezes em São Paulo – que explica para a criançada de 1º grau por que que não se deve copiar. A associação dá material para as professoras debaterem esse assunto na sala de aula. Jackson. O concurso “Copiar livro não é legal” premia trabalhos de crianças de 7 a 14 anos. O objetivo é que elas entendam por que não se deve copiar um livro, o prejuízo que isso causa ao autor, que gastou grande parte da vida dele escrevendo, e à editora que publicou o texto. A criança que tirar primeiro lugar ganha um computador, a professora também. E sua escola recebe 150 livros para a biblioteca.
Mas a Warner se incomoda. Mauro. Dois dias depois ele se explicou: “Não é bem assim, não falei bem isso”. Afinal, ele não vai viver de salário de ministro. Tudo tem que ser feito dentro da realidade. Se o papel é branco, ou papel jornal, ou virtual, tanto faz.
Segundo afirmação no site da associação, “a ABDR está disposta a incentivar e facilitar o suprimento e atualização das bibliotecas de instituições de ensino público”. Como ela está fazendo isto? Mauro. Nós tivemos um caso muito bem-sucedido na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A universidade proibiu que firmas que fizessem reprografia de livros se instalassem no campus e nós, em contrapartida, doamos livros para suas bibliotecas. Gostaríamos de expandir esse relacionamento, e temos feito várias tentativas de entrar em contato com os dirigentes das universidades para explicar por que não devem estimular a cópia xerográfica e sim aumentar os acervos das bibliotecas. Essa é uma das formas de se coibir a reprografia, ter boas bibliotecas.
“Os programas nacionais de fomento à leitura devem ser discutidos pelo Snel e a CBL. O objetivo da ABDR é esclarecer os pontos negativos e reprimir a reprografia”, diz Mauro
A ABDR desenvolve trabalho de conscientização junto às universidades, livreiros, escolas, bibliotecas etc. a fim de esclarecer o problema da reprodução ilegal de livros. Como é este trabalho de conscientização? Mauro. A associação tem vários tipos de orientação. Mandamos cartilhas e cartas para os reitores, professores, bibliotecários, temos um site e realizamos a promoção “Copiar não é legal”. É um concurso durante a Bienal – já 42 Revista Literal
E quais as dificuldades para efetivamente implantar essas parcerias? Mauro. Acho que a primeira dificuldade é que se trata de uma coisa nova. É tão mais fácil copiar o livro que as pessoas nem param pra pensar que existem outras soluções. A segunda dificuldade é a universidade saber o que precisa. Se você chegar hoje numa faculdade e disser: “Vou doar US$ 10 milhões para comprar livros”, seus diretores não saberão o que comprar. E a última dificuldade é a questão da verba. Nós podemos ajudar até um certo ponto, baratear o livro, facilitar o prazo, mas não podemos simplesmente doar para todas as faculdades e universidades do Brasil todos os livros que eles precisam. Um investimento constante na formação de um público leitor e de bibliotecas por parte das editoras associadas à ABDR, bem como a criação de feiras de troca de livros não seria mais eficaz do que a simples repressão à cópia ou a distribuição de cartilhas? Mauro. Veja bem, existem vários organismos que cuidam do livro, como o Sindicato Nacional dos Editores e Livreiros (SNEL) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL). A ABDR está voltada especificamente para este problema da reprografia. Os programas nacionais de fomento à leitura devem ser discutidos nessas organizações maiores. O objetivo da ABDR é esclarecer os pontos negativos e reprimir a reprografia, esse é o nosso ponto focal. A nível nacional, fazemos parte do Comitê Interministerial de Combate à Pirataria, porque a pirataria não é um problema somente do livro.
O que é preciso para baratear o preço final dos livros no Brasil? Mauro. No fundo, o maior componente do custo hoje é a baixa tiragem. Se nós tivéssemos uma tiragem maior, o livro poderia custar bem menos. Acho que, comparado a al-
guns países desenvolvidos, o livro no Brasil é barato. Hoje, nos Estados Unidos, um livro universitário raramente custa menos do que US$ 100. E aqui você tem nossos livros custando R$ 50, R$ 60, R$ 80, R$ 100, quase um terço dos livros estrangeiros. Nós temos muitas traduções de livros universitários e, geralmente, no Brasil eles custam muito menos do que os originais. Mas o poder aquisitivo, em contrapartida, também é muito maior na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. Mauro. Exatamente. Mas a ABDR, em relação ao poder aquisitivo, não pode fazer nada. O livro poderia ser mais barato se a tiragem fosse aumentada. Mas o livro no Brasil não é caro•
Revista Literal 43
A linguagem do mangá Pesquisador explica toda a complexidade narrativa, desenvolvida ao longo de séculos, que garante o sucesso dos quadrinhos japoneses. Por Amaro Braga Publicado originalmente em março de 2005
Em algum momento, não muito distante, você deve ter se deparado com a expressão “mangá”. Pode tê-la visto em algum desenho animado na TV, em alguma revista em banca de jornal, em um site, numa matéria de jornal, ou da boca do seu filho ou sobrinho. E deve ter se perguntado “o que diabos é isso?”. Com certeza não tem nada a ver com aquela fruta, suculenta e amarela, nem com a ação deliberada de escárnio alheio, por mais que isso lhe pareça tentador. Talvez tenha a impressão de que se trata de mais alguma coisa oriental, como os sushis, sashimis e o origami. E está certo. É dos japoneses, entre tantas outras coisas, a mais recente expressão cultural a encantar os adolescentes: os “mangás”. É como os japoneses chamam suas histórias em quadrinhos, uma palavra que pode ser traduzida como hilariantes ou involuntários (man) desenhos (ga). É a versão oriental do nosso gibi, com uma série de ressalvas. Hoje, a ligação do Brasil com o Japão é muito próxima. No Brasil, a partir de 1908, chegava no Porto de Santos o navio Kasato Maru, com a primeira grande leva de imigrantes, tornando nosso país a maior colônia de descendentes japoneses fora do Japão, com uma população de 1,5 milhão de descendentes. Apesar desta proximidade com os japoneses, os quadrinhos têm espaços e tratamentos 44 Revista Literal
completamente diferentes em ambas as nações. Enquanto no Brasil os quadrinhos eram vistos há até pouco tempo como mero entretenimento infanto-juvenil, no Japão os mangás são uma indústria de entretenimento tão forte como o cinema é para os EUA.
Gêneros e subgêneros. Os mangás são publicações gigantescas de 600 páginas semanais, que parecem verdadeiras listas telefônicas, com tiragens que podem chegar a 6,5 milhões de exemplares, destinadas a públicos específicos divididos em gêneros e faixas etárias. Assim, existem dois grandes tipos de mangás: os Shonen Mangá que são os quadrinhos pra meninos com uma maior incidência de cenas de batalhas como Dragon Ball, onde são valorizados a força, vigor e a batalha pessoal do personagem; e os Shojo Mangá, os quadrinhos pra meninas, onde as cenas de relacionamento e carisma social são mais intensas e sempre acompanhadas de bichinhos fofinhos como em Sakura Card Captors. Você ficou contente pensando que bastaria decorar estes dois nomes para se mostrar atualizado na conversa com seu filho/sobrinho? Desculpe-me, mas dentro destas categorias eles ainda se dividem em mangás para crianças (Yonenshi Mangá), mangás para adolescentes (Shonensi Mangá), revistas para
Reprodução
Arte de Katsushita Hokusai, que em 1814 lançou uma edição do que ele chamou de Hokusai Manga
Revista Literal 45
“jovens adultos” (Yangushi Mangá) e para adultos (Seinenshi ou Otonashi Mangá). Pensa que acabou? Eles ainda são determinados pelo gênero ao qual se referem, assim os quadrinhos eróticos são Hentai Mangá; os voltados para situações históricas reais são Jidaimono Mangá; de humor escatológico são Unko Mangá; os de instrução são Jôhô Mangá, entre uma série de outras denominações. Dá para ter uma idéia do tamanho do mercado de quadrinho dos japoneses, e olha que nem começamos a falar dos animês – os desenhos animados – entre outras expressões paralelas como os famosos Tokusatsu, aquelas séries com atores reais como Jaspion, que com certeza você já assistiu! Antes que tudo isso se embaralhe na sua cabeça, falemos sobre a origem do mangá, que é resultante, sobretudo, da tradicional produção japonesa de ilustrações, em nanquim e aquarela, aliadas às influências dos comics norte-americanos do pós-guerra. Esta tradição iconográfica se inicia com as gravuras ideográficas em 400-500 a.C. As primeiras atribuições aos quadrinhos nipônicos são instituídas pelos monges no século XI, com umas caricaturas zoomórficas denominadas Chôjûgigai (literalmente algo como “imagens humorísticas de animais”). Tratava-se de um compêndio com cenas humorísticas feitas com pequenos animais desenhadas por um monge chamado Toba em superfícies de madeira e depois estampados em papiros (como na xilogravura) e que passariam depois a ser denominados de E-Makimono. As denominações desta arte seqüencial japonesa variavam conforme o suporte em que eram executadas. Assim, surgem os Zenga, como gravuras; os Ôtsu-e, imagens vendidas no meio da rua; os Nanban, que eram histórias desenhadas em biombos; e, os Ukiyo-e, imagens desenhadas na madeira. Mas a primeira denominação de “mangá” surge justamente com um artista de ukiyo-e, chamado Katsushi46 Revista Literal
ta Hokusai, que em 1814 lança uma edição do que ele chamou de Hokusai Manga, algo como Desenhos (ga) Involuntários (man) de Hokusai [veja na página anterior]. Mangá no Japão passou então não só a denominar a arte seqüencial (histórias em quadrinhos), mas também caricatura, e todo os tipos de humor gráfico, assim como os mais variados tipos de ilustrações cômicas. Daí pra frente, essa nova forma de arte só evoluiu, sofrendo influências de diversos artistas, sendo Osamu Tezuka o mais importante criador do estilo moderno do mangá, que se implantaria no Japão a partir das duas primeiras décadas do século XX, com o advento dos Kamishibai, os chamados “teatro de papel”, que consistia na apresentação de historinhas desenhadas em lençóis e apresentadas nas ruas. As diferenças estéticas do mangá são, todavia, extremamente recentes e foram instituídas por Tezuka, inspirado nos desenhos americanos principalmente os da Disney, publicados no Japão no fim da década de 1940. Os olhos grandes, característica bem diferenciada no mangá, por exemplo, surge com o trabalho do Tezuka, com o objetivo de “homenagear os desenhos da Disney”. E esta característica não é a única. O mangá é muito diferente das histórias em quadrinhos produzidas até então no Brasil e em todo o ocidente. Ele tem formas próprias, a começar pelo modo que é editado: com volumes imensos, de publicação semanal, em preto e branco ou com algumas páginas em duas cores e o formato de leitura oriental, isto é, da direita pra esquerda, invertendo o modo ocidental de ler. Também são diferentes as histórias, que variam nos mais diversos formatos e temas, de viagens fantásticas e cibernéticas, até os convívios frugais de uma dona de casa lidando com os filhos e o marido. Mas a principal diferença, para os quadrinhos ocidentais, leia-se norte-americanos, é que os quadrinhos japoneses são temporal-
mente circunscritos. Os personagens por mais sucesso que façam, tem uma vida definida e um fim programado. Como exemplo, Dragon Ball, que durou mais de 10 anos, nos quadrinhos e nos desenhos animados, começou como criança, cresceu se casou, teve filhos, seus filhos se casaram, tiveram netos etc. Os personagens não são congelados no tempo, eles possuem uma vida finita que é explorada até a sua extinção. Ou seja, quando uma série termina, é costume seus personagens nunca mais aparecerem em nenhuma outra história. Isto é, cada história é única, sem continuidade, o que é o grande marco que a distingue das histórias em quadrinhos norte-americanas, por exemplo, famosas pela eterna continuidade. É muito importante também notar a diagramação desses quadrinhos, o uso de grandes onomatopéias e linhas de fundo para dar noção de velocidade, e a chamada “linguagem cinematográfica” (apesar de ter surgido primeiramente nos quadrinhos e não no cinema), com perspectivas que exploram a ação e o sentimento dos personagens. É neste ritmo que são consumidos mais de 1 bilhão de revistas atualmente por ano no Japão. Os mangás ainda apresentam desenhos estilizados que simplificam a musculatura dos personagens e rebuscam as vestimentas, empreendendo especial atenção com suas cabeleiras. Metalinguagem e onomatopéias. Um dos maiores destaques do mangá fica por conta da utilização excessiva das onomatopéias e dos recursos metalingüísticos, que por uma época foram muito recorrentes nos quadrinhos ocidentais. As onomatopéias são um alicerce nos mangás, as mais variadas ações são acompanhadas de representações gráficas dos sons que as acompanhariam. Coçar a cabeça, uma dor nas costas, uma idéia inusitada etc. tudo é desculpa para a utilização de uma destas representações. Os recursos metalingüísticos são manipulações exageradas de elementos cuja represen-
tação simbólica intensificam um determinado sentimento ou emoção. São símbolos, como as célebres menções ao surgimento de idéias com uma lâmpada sobre a cabeça, ou o temperamento enraivecido com uma nuvem tempestuosa, assim como as caretas de engodo e quedas de decepção. Inspirados pelas metalinguagens americanas da Disney, as metalinguagens japonesas tendem a ampliar situações em que estão envolvidos os personagens através de expressões e sentimentos mais variados, todos com uma visão cômica. As caretas estão presentes em todo o tipo de história, por mais séria que seja; as gotas de lágrima de tamanho exagerado, e de secreção nasal, muitas vezes maior que os rostos dos personagens; os socos, pontapés e cascudos físicos, assim como as quedas “de-pernas-para-o-alto” e as miniaturas de personagens são as expressões mais utilizadas no quadrinho japonês. As miniaturas são utilizadas para enfatizar uma situação com base num sentimento primário, típico da infância, como medo e alegria. Estas metalinguagens são empregadas na tentativa de enfatizar os diálogos, e que normalmente são ações que visam simplesmente uma representação simbólica das expressões e dos diálogos textuais. Ao mesmo tempo em que o mangá se caracteriza pela utilização das linhas sinópticas de velocidade, ou seja, aqueles tracejados paralelos que aparecem numa cena com o objetivo de simbolizar o deslocamento, também se caracteriza pelas cenas congeladas e pela disfunção do tempo. Espaço e tempo são vetores trabalhados extensamente pelos japoneses. A percepção de como o tempo é decorrido, é vital para se compreender não só a produção do mangá, mas toda a expressão cultural do Japão. Esta talvez seja a particularidade mais distinta dos quadrinhos japoneses para os quadrinhos ocidentais, no qual predomina um tempo rápido, linear, mas que ao mesmo tempo, na construção das cenas em Revista Literal 47
Reprodução
Mauricio de Sousa e Osamu Tezuka, no Japão, nos anos 1980
48 Revista Literal
quadrinhos, é intervalar, impondo ao leitor o desenvolvimento das cenas sucumbidas neste intervalo. Nos mangás, este intervalo é dissecado, desmembrado e esgotado sobre diversos pontos de vistas. Seria algo como “aspecto-pra-aspecto”, como diria o pesquisador de quadrinhos Scott McCloud. Em poucas palavras: segundos de ação podem durar dezenas de páginas. Mesmo com estas grandes diferenças, o mangá vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, modificando o padrão de consumo e produção das histórias. Os grandes mercados de quadrinhos no mundo – americano e europeu – estão se rendendo ao universo do mangá. Os europeus têm mais resistências, mas os americanos estão conscientes das cifras de lucro que o mangá pode vir a propiciar. Os maiores heróis norte-americanos já ganharam suas versões em mangá. Estas adaptações são superficiais, tendo em vista todos os elementos citados anteriormente. Eles se utilizam da estética do desenho e dos recursos metalingüísticos e identificam este quadrinho ajustado como mangá. Mas até ser mangá o caminho é bem mais extenso do que uma mera adaptação.
Mangás no Brasil. Apesar de o mangá ter surgido no Brasil nas comunidades nipônicas no Sul e Sudeste do país e alguns materiais já terem sido publicados e traduzidos como foi com o Lobo Solitário, uma das primeiras publicações de mangá no Brasil, o fenômeno do mangá não havia conseguido sucesso, nem despertado tanto interesse da população brasileira que não fosse de origem nipônica. Em contraponto, outros veículos da cultura pop japonesa tiveram muito sucesso, como os Anime (o desenho animado) e os Tokusatsu (as séries com atores reais) e Sentai (as séries de atores reais em grupo de cinco), que vêm fazendo sucesso no Brasil há mais de 40 anos. Os mangás só começaram mesmo a emplacar depois da febre de animes na televisão devido ao grande sucesso de um desenho animado em particular. Em 1994, chegava ao Brasil a série Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya no original, eram garotos que vestiam armaduras
inspiradas nos signos e constelações astrais e na mitologia grega e que tinham a missão de proteger a Terra e a personificação da Deusa Athena na Terra dos perigos e conspirações que advinham. Este desenho animado da Toei Animation e da Shueisha, desenvolvido por Massami Kurumada para a revista Shonen Jump, inicialmente como mangá, totalizou 114 episódios para a TV, que estourou no Brasil. O ibope dos episódios fez surgir uma revista chamada Herói, que entre outros assuntos sobre quadrinhos e desenhos animados japoneses, era totalmente dedicada ao tema. Tanto a revista Herói, de tiragens dignas de mangá, quanto o desenho dos Cavaleiros, foram fenômenos jamais vistos no mercado juvenil nacional. O sucesso do desenho animado dos cavaleiros trouxe consigo outros animes de sucessos como Dragon Ball e Sailor Moon. É interessante notar que os japoneses, ao produzirem estes materiais, já os preparavam para o mercado estrangeiro, desenvolvendo paralelamente ao nome japonês uma “versão ocidental”, em inglês, da série. Como é o caso de todos estes desenhos e mangás citados anteriormente. Apesar da influência da comunidade japonesa vir ocorrendo a partir da década de 1910, os mangás só começaram a ser publicados em seu formato original – invertido – nos últimos cinco anos. Este mercado de aceitação da estética japonesa que se formou e que garantiu o sucesso destes mangás de hoje, foi um processo que se desencadeou aos poucos, primeiramente com lançamento dos tokusatsu, seguido pelos animes e, o essencial para seu sucesso, a publicação dos mangás em seu formato original, com a leitura invertida. Apesar de parecer complicado, o mangá se tornou famoso justamente por introduzir a simplicidade e a naturalidade nos quadrinhos. Tudo é feito de forma contemplativa, apaixonante e intensa. Por mais que pareça fugaz e um modismo fruto do fluxo da globalização cultural, o mangá veio para ficar• Amaro Braga é quadrinista, cientista social, especialista em História da Arte e mestre em Sociologia
Revista Literal 49
Reprodução
50 Revista Literal
Meu amigo Canhoteiro Em crônica inédita, Ferreira Gullar conta como foi ver um colega de pelada no Maranhão virar um dos grandes ídolos esquecidos do futebol brasileiro. Por Ferreira Gullar Publicado originalmente em junho de 2006
Éramos todos garotos, entre oito e dez anos, e nosso campo de futebol era a área cimentada do Mercado Novo, que ficava em frente à quitanda de meu pai. A pelada era depois das quatro da tarde, quando já tínhamos voltado da escola. Pereba, Carroca, Espírito e eu, também conhecido como Periquito, podíamos ser considerados sofríveis, para não dizer pernas-de-pau. Os dois craques eram Esmagado e Canhoteiro que, aliás, iam no futuro se tornar estrelas do futebol profissional. Mas entre Esmagado e Canhoteiro, havia uma diferença: Canhoteiro era gênio. Sem desfazer do talento de Esmagado, que se tornaria um ídolo do futebol maranhense, a genialidade de Canhoteiro já se revelava, ali, de maneira inequívoca. Ele era o mais novo do grupo e ainda chupava dedo. Lembro-me bem de sua figura segurando a ponta da camisa e dois dedos, enfiados na boca. Era assim, desse jeito, que ele saía driblando todo mundo, como se a bola ficasse presa em seus pés. Na verdade, o mais comum de seus dribles era correr com a bola (que era pequena, de borracha), batendo no chão e na sola de seu pé esquerdo. Era canhoto e daí ser chamado, já naquela idade, de Canhoteiro. O pai dele, seu Cecílio, via com preocupação a mania do filho pelo futebol. É que nós,
os outros, aparecíamos ali para a pelada, mas dávamos conta das lições de casa, enquanto Canhoteiro não apenas era tarado por jogar bola como não queria pensar noutra coisa. Seu Cecílio, que vivia de vender mingau de milho e tapioca, numa banca do Mercado Novo, não queria esse mesmo destino para o filho. Mal sabia ele que estava ali, na obsessão do filho pela bola, o futuro do menino e da família. Adolescente, ele se tornaria jogador profissional e logo logo uma glória do futebol maranhense. Seu Cecílio passou a sorrir e até mesmo a ir vê-lo jogar. Alegria maior foi a notícia de que Canhoteiro ia jogar num dos maiores times do país, o São Paulo Futebol Clube; alegria, diga-se a verdade, com um travo de tristeza, já que o filho passaria a viver numa cidade distante. Já àquela altura, eu me metera com a poesia e me mudara para o Rio de Janeiro. Ignorava o destino de Canhoteiro, até ler que ele havia sido convocado para a seleção brasileira. Cheguei a pensar que se tratava de outro jogador com o mesmo apelido, mas, para minha alegria, uma foto ao lado tirava qualquer dúvida: era ele mesmo, meu amigo de infância, que se havia tornado ídolo da torcida sãopaulina e considerado, por seus dribles endiabrados, o Garrincha do Morumbi• Revista Literal 51
Reprodução
52 Revista Literal
Copa do Mundo: alegria e sofrimento “Sou um velho escritor profissional, mas não tenho palavras para descrever aquele momento”, conta Rubem Fonseca num texto inédito em que narra seu êxtase e desilusão como torcedor que acompanhou todos os jogos da Copa de 50 ao vivo, no Maracanã. Por Rubem Fonseca Publicado originalmente em junho de 2006
Sofro quando o meu clube joga. Mas sofro muito mais ainda quando é a seleção do Brasil que está jogando. Fico nervoso, tenso, quer esteja ouvindo no rádio, vendo pela televisão ou indo ao campo (como em 1950, mas já volto a falar disso). Só deixei de acompanhar, como sempre ansioso, as copas de 1930, em que o Uruguai foi campeão, e as de 1934 e 1938, vencidas pela Itália, eu era ainda muito criança. Como todos sabem, a competição foi suspensa entre os anos 1942 e 1946, devido à 2ª Grande Guerra Mundial. Em 1950 a Copa voltou ser realizada e o Brasil foi escolhido para ser a sede. Havíamos acabado de construir o Maracanã, o maior estádio do mundo, onde cabiam cerca de duzentos mil espectadores. Assisti a todos os jogos do Brasil no Maracanã. Após o primeiro jogo, Brasil quatro a zero no México, eu já estava rouco. Depois empatamos com a Suíça, com um time só de
paulistas. Em seguida ganhamos da Iugoslávia por dois a zero. A Inglaterra foi eliminada pelos Estados Unidos, num jogo realizado em Belo Horizonte. A Itália, com um time desfigurado, devido ao trágico acidente que matou todo o time do Torino, também foi eliminada cedo. Quatro times se classificaram para o quadrangular final: Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. (Esse esquema de “quadrangular” nunca mais seria repetido em copas do mundo.) Nosso primeiro jogo das finais foi com a Suécia. O estádio estava tão cheio que ninguém podia se sentar. Entre uma arquibancada e outra postava-se em pé outra fila de torcedores. Mas ninguém se importava com aquele aperto que não permitia que a gente se mexesse, o nosso time jogava de uma maneira perfeita e ganhamos do ótimo time da Suécia por sete a um. Lembro que eu e os meus irmãos saímos exultantes do Maracanã, no Revista Literal 53
meio de uma multidão que gritava os nomes dos nossos jogadores. O jogo com a Espanha foi inesquecível. O estádio estava superlotado, como nas outras ocasiões. A Espanha tinha um timaço. Nós ganhamos por seis a um. Quando fizemos o quarto gol, aos onze minutos do segundo tempo, o estádio começou a cantar a marchinha popular “Touradas em Madri”. Não demorou muito para que as duzentas mil pessoas (ou mais, consta que houve uma invasão de penetras por um dos portões) começassem a cantar em uníssono: “Eu fui às touradas em Madri, pararatibum, bum, bum, pararatibum, bum bum, e quase não volto mais aqui, pra ver Peri beijar Ceci, pararatibum, bum, bum, pararatibum, bum, bum”. Quando a multidão cantava pararatibum, bum, bum, o som era tão estentóreo que o cimento e os vergalhões de ferro das arquibancadas tremiam e vibravam, como se fossem se romper. Nunca houve, nem haverá, um coro de vozes tão faustoso, magnificente, pomposo, ruidoso, dantesco, apoteótico em que centenas de milhares de pessoas empolgadas e felizes cantavam em uníssono, a plenos pulmões celebrando de maneira fantástica uma vitória. Sou um velho escritor profissional, mas não tenho palavras para descrever aquele momento. Gostaria que essa fosse a única lembrança da Copa do Mundo de 1950. Mas não foi. O nosso jogo final seria com o Uruguai, um time que chegara se arrastando ao quadrangular. Éramos os favoritos absolutos. Na véspera, a concentração do time brasileiro pululava de gente, jornalistas, fãs, bicões, publicitários, o diabo. As faixas de campeão do mundo já tinham sido feitas, e os jogadores posaram com elas para fotografias. O nosso time era o melhor do mundo, e era mesmo, só faltava sacramentar em campo, num jogo com o timeco do Uruguai, cujo resultado todos já sabíamos qual seria. Naquela noite ninguém dormiu na concentração. Eu também, na minha casa, não dormi, 54 Revista Literal
aguardando excitado a hora em que seríamos campeões do mundo. Era o dia 16 de julho de 1950. Quatro horas e cinqüenta minutos. Como é que não consigo esquecer esse horrendo dia? Trinta – trinta, puta que pariu! – trinta oportunidades de gol perdidas pelo nosso time e, inesperadamente, o Ghiggia chuta torto e a bola passa entre a trave e o nosso goleiro Barbosa, que fechara o ângulo corretamente. O nosso Barbosa e todos os duzentos mil espectadores, ninguém esperava que o Ghiggia errasse o chute e errando nos causasse toda aquela desgraça. (Barbosa acabou sendo crucificado, ele e o Biguá, o lateral que teria levado um tapa do Obdulio Varela e não reagira. Também o técnico Flavio Costa foi culpado. Mas, por mais bodes expiatórios que fossem criados, a tragédia daquela derrota não tinha explicação.) Quando o jogo acabou, o silêncio foi profundo, tão estrondoso (perdoem o oximoro) que doía em nossos ouvidos. Duzentas mil pessoas mudas e surdas. Até os choros eram silenciosos, e as lágrimas escorriam apenas dos olhos dos mais fortes, aqueles que não haviam ficado transidos, estarrecidos e obnubilados com a desgraça que se abatera sobre nós. O presidente da FIFA, Jules Rimet, conta no seu livro La histoire merveilleuse de la Coupe du Monde: “Ao término do jogo, eu deveria entregar a Copa ao capitão do time vencedor. Uma vistosa guarda de honra se formaria desde a entrada do campo até o centro do gramado, onde estaria me esperando, alinhada, a equipe vencedora (naturalmente, a do Brasil). Depois que o público houvesse cantado o hino nacional, eu teria procedido à solene entrega do troféu. Faltando poucos minutos para terminar a partida (estava 1 a 1 e ao Brasil bastava apenas o empate), deixei meu lugar na tribuna de honra e, já preparando os microfones, me dirigi aos vestiários, ensurdecido com a gritaria da multidão… Eu seguia pelo túnel, em direção ao campo. À saída do túnel, um silêncio desolador havia tomado o
Reprodução
lugar de todo aquele júbilo. Não havia guarda de honra, nem hino nacional, nem entrega solene. Achei-me sozinho, no meio da multidão, empurrado para todos os lados, com a Copa debaixo do braço”. Jules Rimet estava perplexo com a derrota do Brasil e não sabia o que fazer. Nós, os brasileiros, estávamos agonizando, atormentados por uma tristeza pungente, por um padecimento insuportável. Eu estava lá, posso repetir, como no clássico poema “I-Juca Pirama”, de Gonçalves Dias: “Meninos, eu vi”. Já sofri em outras ocasiões, com a seleção do Brasil. Com aquela bola cruzada em frente à nossa área pelo Toninho Cerezo, em 1982, que o Paulo Rossi aproveitou para destruir nossas mais que fundamentadas esperanças de sermos campeões do mundo com o time dirigido pelo Telê Santana, o melhor da competição. (Rossi foi o nosso car-
rasco, fazendo os três gols da nossa derrota por três a dois.) Com o pênalti perdido pelo Zico em 1986, pelo Zico que nunca perdera um pênalti na sua vida, defendido pelo goleiro francês Bats, que se entrasse nos classificaria. Com a nossa derrota para o time medíocre da França em 1998. E com outros revezes felizmente esquecidos. Mas o sofrimento do dia 16 de julho de 1950 jamais esquecerei. Para descrever o que senti naquela tarde, vem-me sempre à mente a famosa frase de Conrad, em O coração das trevas: o horror, o horror, o horror. É claro que a seleção brasileira deu-me também muitas alegrias, afinal somos pentacampeões, e espero que sejamos hexa em julho próximo. [NE. Perdemos para a França.] Mas, na verdade, o sofrimento da derrota é sempre mais avassalador e infindável do que a euforia da vitória• Revista Literal 55
Reprodução
56 Revista Literal
Catadores de papel Eloísa Cartonera, editora alternativa criada em Buenos Aires exporta para a América Latina projeto pioneiro que dá voz e trabalho a quem vive de vender papelão. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em junho de 2006
Tapa hecha con cartón comprado en la via pública a $1,50 el kilo. Cortado y pintado a mano e impreso con una imprenta donada por la Embajada de Suiza en Buenos Aires, en la cartonería “No hay cuchillo sin rosas”, Guarda Vieja 4237, ciudad de Buenos Aires. Eles pesam pouco mais ou menos que 200 gramas, chamam a atenção pela capa, aquele marrom pardo das caixas de papelão, pintadas uma a uma, à mão, com cores chamativas, e carregam dentro poemas, histórias, contos, enfim, um rico e crescente panorama da literatura latino-americana de ontem e de hoje. Como o texto acima informa na “ficha técnica” destes livros artesanais, suas capas são feitas com papelão comprado nas ruas ao preço de 1,50 pesos argentinos, cinco vezes mais o preço que normalmente se paga pelo papelão usado em Buenos Aires, cerca de 0,30 centavos de peso. O miolo muitas vezes é fotocopiado ou impresso na tipografia doada pela Embaixada suíça, e depois colado no papelão. E são estes livros que vêm conseguindo no país vizinho algo que muitos almejam, mas não conseguem tornar realidade: produzir livros de literatura com preço acessível, unir pessoas em torno de um
projeto artístico, social e comunitário e, além disso, fazer circular uma produção contemporânea que não encontraria outra maneira de vir a público. É isto o que vem fazendo a Eloísa Cartonera, projeto que mantém uma editora que publica material inédito ou fora de circulação há algum tempo, marginal e também de vanguarda de escritores latino-americanos – argentinos, chilenos, mexicanos costa-riquenhos, uruguaios, peruanos, brasileiros –, mas não só. Nomes consagrados pelo mercado editorial, como os argentinos César Aira e Ricardo Piglia, e o brasileiro Haroldo de Campos (El ángel izquierdo de la poesía, em dois volumes, bilíngüe e inédito no Brasil) também tiveram seus contos e poemas publicados pela Cartonera. A idéia surgiu em 2003, quando o escritor Washington Cucurto e o desenhista e artista plástico Javier Barilaro começaram a desenvolver uma editora independente de poesia latino-americana. Em março daquele ano, ocorreu-lhes usar papelão para as capas das publicações. O objetivo era fazer algo mais do que livros, com a participação de cartoneros, palavra sem tradução direta, que define aqueles que trabalham recolhendo papelão, Revista Literal 57
Reprodução
ocupação que cresceu consideravelmente na Argentina com a crise econômica de 2001. “Começamos a fabricar os livros nós mesmos, para participar de algum evento literário ou mostra de arte. Fazíamos 20, 30 livros e íamos vendê-los. Em agosto de 2003, Fernanda Laguna juntou-se a nós e com seu apoio conseguimos nossa sede. Aí sim começamos a dar trabalho a cartoneros para fabricá-los. Abrimos a Cartonera com sete títulos”, relembra Barilaro, coordenador plástico da editora. Em entrevista ao site Duplipensar, Cucurto afirma que “a situação econômica, nossa emergência social e a impossibilidade de ver todas as portas fechadas nos levou a uma nova porta, a da frase: ‘faça você mesmo e não espere que ninguém faça por você’”. Fernanda Laguna, artista plástica, conseguiu apoio para alugar o espaço onde hoje funciona a sede da Cartonera, uma galeria de arte chamada No Hay Cuchillo Sin Rosas, antiga verdureira, onde trabalham escritores, artistas, crianças e jovens que até então vendiam papelão pelas ruas de Buenos Aires. Artista plástica e escritora, Fernanda dirige a galeria Belleza y Felicidad e é a responsável pela gestão institucional da Cartonera e curadora das mostras na galeria-sede do projeto. 58 Revista Literal
A fabricação dos livros é feita à vista do público e alguns autores também participam da confecção dos livros artesanais, cuja tiragem varia de 40 a mil exemplares. Ex-cartoneros, na maioria jovens, começaram recebendo 3 pesos por hora de trabalho – valor que foi aumentando paulatinamente e hoje é de 10 pesos por hora –, pintando as capas e montando os livros, vendidos lá mesmo e em outras pequenas livrarias argentinas, que pagam antecipadamente por eles. O catálogo já conta com 85 títulos, os únicos responsáveis pelo sustento da Cartonera. Não possuem nem buscam financiamento de nenhum outro tipo que não a venda dos livros. “Não é que evitemos os bancos, mas tampouco os procuramos. Queremos evitar que seja um projeto ‘artificial’, que sobreviva graças a subsídios. A intenção é nos manter através da venda de livros. E tampouco damos livros a jornalistas para que nos façam resenhas. Um livro comprado é um livro apreciado. Também não trabalhamos com bancos porque não somos uma empresa, não queremos ter a obrigação de ser ‘rentável’, porque para isso deveríamos publicar somente títulos vendáveis”, conta Barilaro.
Reprodução
Os cartoneros tampouco têm relação com o Estado argentino. Ao contrário da Embaixada da Suíça, que doou a tipografia, da Embaixada espanhola, que ajudou com algum dinheiro, e da Embaixada brasileira, que subsidiou a impressão dos títulos de autores nacionais, como Jorge Mautner, Glauco Mattoso, Douglas Diegues, Guilherme Zarvos, Camilla do Vale. Os títulos mais vendidos são obviamente dos autores mais conhecidos, como César Aira, Ricardo Piglia, Fabian Casas, Washington Cucurto, Lamborghini, Alan Pauls, Haroldo de Campos. O conto Mil gotas, de Aira, vendeu mais de 700 exemplares, enquanto os outros citados, na faixa de 300, em média. O miolo destes livros é feito na tipografia, mas a Cartonera segue publicando em fotocópias também. Quanto aos direitos autorais, os autores concedem uma permissão para a publicação, não cedem os direitos. Um auxílio importante veio com o 1º Prêmio da Red de Artistas, oferecido pela Feira de Galerias de Arte ArteBA 2004, que cedeu à editora um espaço na feira. Foi quando seus organizadores conseguiram vender uma grande quantidade de livros e divulgar a Cartonera. Receberam também um prêmio de 5 mil pesos, investi-
dos no projeto. E ainda criaram seu próprio prêmio, o Nuevo Sudaca Border de Narrativa Muy Breve, cuja primeira edição recebeu em torno de 500 textos e teve seis novos autores publicados – Marcelo Guerrieri, Pedro Nalda Queral, Gonzalo Alfonsin, Toya Jackson, Dante Castiglione e Leandro Ávalos Blacha. A idéia vem inspirando outras iniciativas pelo continente, como a Sarita Cartonera, que funciona em Lima, no Peru, desde 2004, e publicou 23 títulos, com apoio da Municipalidade Metropolitana de Lima. “Na Bolívia, em Cochabamba e La Paz, também estão desenvolvendo, mas não sabemos como anda. No Brasil, em 2005, alguns dos nossos realizaram oficinas em Niterói. Em São Paulo, estamos em contato com o escritor Joca Terron e a artista plástica Lucia Rosa, que estão armando uma mostra com artistas que trabalham com papelão. Fomos convidados pela Bienal de Artes de São Paulo, em outubro, para armar uma filial da Cartonera durante o evento, e a idéia é que continue a funcionar depois que ele acabe”, diz Barilaro. [Leia mais na próxima página] A responsável pela vinda de Washington Cucurto e outros organizadores da Eloísa Cartonera para as oficinas que aconteceram no MuRevista Literal 59
seu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói foi Camilla do Vale. Poeta e narradora mineira, ela mora no Rio de Janeiro há dez anos. “Cucurto veio ao Rio em 2004, para um evento onde o Guilherme Zarvos juntou o pessoal do CEP 20.000 e da Cartonera. Eu o conheci num evento na Casa de Rui Barbosa, no lançamento de um livro de poesias de um diplomata, ele um peixe fora d’água. Para tentar entender o que era literatura no Brasil, naquele ambiente todo formal, o poeta de terno e gravata, algo muito empolado, a primeira pergunta que ele me fez foi: ‘Mas onde é que está a classe trabalhadora que escreve no Brasil?’. Ali acabou a formalidade entre nós, ele começou a me contar sobre como chegou à literatura, do movimento literário que ajudou a criar, com o Festival de Poesias Salida ao Mar. E me convidou para ir ao festival”, conta Camilla, doutora em Literatura Portuguesa. Em 2005, a Prefeitura de Niterói apoiou o projeto de trazer a Cartonera para oferecer uma oficina no MAC voltada para os catadores de papel, garis, alunos de escola pública e de projetos sociais. “Chamaram-me para fazer a coordenação do projeto, sei que as pessoas da prefeitura e o presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN), aprovaram, mas ele ainda não começou”, completa Camilla. “É uma tentativa de fazer a palavra literária circular em outros meios, com um curso de literatura e acompanhamento cultural, levá-los para freqüentar bibliotecas, exposições, shows, construir um conhecimento em torno daquilo.” Para esta doutora em literatura, é prioritária uma política que inclua a formação do escritor, para que as pessoas comuns também possam dar seu testemunho literário, para que suas classes possam ser representadas literariamente. “A gente fala tanto em democracia participativa, temos que criar condições para que eles possam falar por si mesmos, e não precisem que a classe média o faça”. Porém, as diferenças entre os dois países são grandes, a começar pelo fato de que os catadores de papel na Argentina lêem. Muitos vêm da classe média que empobreceu com a 60 Revista Literal
crise econômica. Além da taxa de analfabetismo (3,1% na Argentina, 13,6%, no Brasil), outra diferença gritante é a educação pública de baixa qualidade em nosso país. “Isso gera preconceito social e uma exclusão do código literário. O Cucurto foi camelô – o pai dele é camelô – até os 14 anos. Depois foi ser repositor de supermercado, trabalhou em várias coisas, inclusive já catou papel, quando teve a idéia da Cartonera. Aí um dia ele se perguntou ‘o que mais eu sei fazer além de colocar biscoito na prateleira? Bom, eu seu escrever e vou ser escritor’. Ele pediu demissão e começou a escrever. Claro que isso foi possível numa Argentina do final dos anos 1990. Não é somente com o talento individual que se faz isso, tem toda uma produção social do papel do escritor”, conta a autora de Mecânica da distração: os aprisântempos. Mas há autores e movimentos que já romperam essa barreira de classe – como é o caso da Literatura Marginal, cujo nome mais conhecido é Ferréz. Ou do escritor Luiz Ruffato, de origem proletária. Ou ainda, no passado, o fenômeno Carolina Maria de Jesus, catadora de papel e doméstica que virou best-seller nos anos 1950 com seu Quarto de despejo. Exceções, porém. “O fato é que estes poucos exemplos acabam por servir de alerta sobre o enorme ‘patrimônio imaterial’ que se perde todos os dias”, diz Camilla. Ricardo Piglia, em entrevista à New Internationalist define bem esta dificuldade: “A literatura é uma indústria estranha, que movimenta muito dinheiro… mas empobrece os escritores. Uma fábrica muito moderna que se sustenta do arcaico trabalho daqueles que escrevem em um quarto. A Eloísa Cartonera está mais próxima desta condição arcaica, ao fazer livros muito mais baratos que os do mercado e ampliar o círculo de escritores e leitores”. Por isso uma das propostas da Cartonera é baratear o livro, torná-lo um objeto acessível, feito com material que foi rejeitado pela sociedade e é reincorporado para se transformar em literatura. Eloísa Cartonera, se não esconde as dificuldades e contradições da literatura, aponta um dos caminhos possíveis•
Reprodução
Dulcinéia Catadora Criado em São Paulo em 2007, o projeto é um desdobramento da Eloísa Cartonera. A Dulcinéia Catadora se considera “um projeto de escultura social, isto é, a sociedade percebida como uma escultura que pode ser modelada para melhor”. Em seu catálogo, o foco é a literatura de autores da América Latina. Alguns títulos divulgados pelo projeto já faziam parte do catálogo do Eloísa Cartonera, como O anjo esquerdo da poesia, de Haroldo de Campos, Delírios líricos, de Glauco Mattoso, e Chuvosos, de Wilson Bueno. Por ocasião da Bienal de São Paulo de 2008, Manoel de Barros, um dos nossos maiores poetas vivos, autor de vários livros de poesia, entre eles, O livro sobre nada, presenteou o grupo com Auto-retrato aos 90 anos, uma compilação de sua produção poética, ele que até então era inédito na Argentina. Esta obra tam-
bém é um dos mais vendidos, ultrapassando os 300 exemplares. Dulcinéia Catadora foi o quarto projeto criado na América Latina: além do Eloísa, existe um núcleo no Peru, o Sarita Cartonera, e o Yerba Mala, na Bolívia. Um quinto projeto também está sendo desenvolvido no Paraguai, a YiYi Jambo, de Douglas Diegues. Os grupos mantêm contato, e, sempre que há interesse, os títulos poderão ser traduzidos do português para o espanhol e vice-versa. Os projetos-irmãos possibilitam a divulgação dos novos autores por toda a América Latina, trabalhando na contramão do mercado editorial, abrindo seus próprios caminhos paralelos na história da literatura latino-americana. (BD)
Revista Literal 61
Shakespeare and Company Na Rue de la Bûcherie, 37, no quilômetro zero, em Paris, está uma das mais incríveis livrarias do planeta. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em novembro de 2007
Ele chegou a Paris logo após a Segunda Guerra e, além de toda uma cidade que precisava ser reconstruída, sua vida também necessitava de um rumo. Não que George Whitman fosse alguém apegado à estabilidade, empregos fixos e aos costumes de uma classe mediana que quer sossego, tranqüilidade e segurança. Mas, de qualquer maneira, era preciso levantar algum dinheiro para a comida, o aluguel e as demais trivialidades da vida diária. Depois de servir no exército norte-americano na Groenlândia, George foi deslocado para uma base militar em Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos. Lá, abriu sua primeira livraria, a Taunton Book Lounge, cuja clientela eram os homens da base e soldados no exterior. Pensou em abrir outra na Cidade do México, mas surgiu a oportunidade de trabalhar como voluntário na França. País que, diferentemente do seu, estava de certa forma se reerguendo depois da tragédia – e com um vigor e liberdade que o macarthismo não permitia na América naquele momento. George chegara a rodar a América Central a pé, após ter se formado em jornalismo em 1935. A idéia inicial era mais ambiciosa: uma viagem pelo planeta, fazendo 48 mil quilômetros a pé. Começou pela Califórnia e foi descendo, México, Belize, Panamá. Esteve ainda no Havaí. Mas, em certo momento, o ímpeto se foi e o andarilho retornou a Boston, pouco antes de ser convocado para servir ao exército norte-americano. Em Paris, aonde chegou em meados dos anos 1940, fez um curso sobre a 62 Revista Literal
civilização francesa na Sorbonne enquanto morava no Hôtel de Suez, no boulevard St. Michel. Com algumas reservas e economizando, conseguiu comprar uma coleção de livros em inglês que, como tudo na cidade que começava ser reconstruída, escasseavam. Assim, aos poucos foi montando uma biblioteca, que logo, logo, depois de perder a chave do quarto e deixá-lo ininterruptamente destrancado, começou a ser freqüentada por interessados em ler os livros, tomá-los emprestados. Corte para 1919. Em outro pós-guerra – neste caso, a Primeira Guerra, que introduziu o mundo no horror das incontáveis mortes em série, e seria desdobrada no próximo conflito –, uma outra norte-americana, também com dificuldades para comprar livros em inglês na capital francesa, resolve abrir uma livraria para suprir esta necessidade. Acabou se tornando a sede de uma turma de compatriotas que chegaram a Paris na bonanza que todo fim de conflito observa – este, o mais trágico visto até então. O chamado período do entre-guerras, onde por 20 anos foi possível acreditar no melhor dos mundos, arrastou para lá, entre muitos outros, Scott Fitzgerald e sua mulher Zelda, Gertrude Stein, Ezra Pound e Ernest Hemingway, que mais tarde iria descrever esse tempo nas memórias de Paris é uma festa (1964). Situada a rue de l’Odeon, no sexto arrondissement, próximo a St.-Germain-des-Prés, a Shakespeare and Company criada por Sylvia Beach foi muito mais que uma mera livraria, e
Reprodução
ela, muito mais que a dona dessa casa de livros em inglês. Sylvia não só reuniu a nata da cultura letrada norte-americana e de Paris, como André Gide e Paul Valéry, como editou o romance mais importante do século passado, Ulysses, de James Joyce. Acusado de ofender os bons costumes ingleses, o irlandês encontrou refúgio na livraria de Sylvia, que acabou assim se tornando editora. Como afirma Hugh Ford, especialista em história das publicações, Sylvia Beach e a Shakespeare and Company foram a “editora do romance de maior relevo deste século (XX) [...], provavelmente a mulher mais famosa de Paris [...] sem dúvida, uma das figuras significativas das letras contemporâneas [...] o mais importante baluarte da América na Europa [...] durante vinte anos, a mais célebre livraria do mundo”. Em seu livro de memórias, Hemingway assim descreveu a aconchegante livraria, que Sylvia também quis que fosse uma biblioteca, mantida por seus leitores: “Um lugar quente e amistoso, com uma grande estufa no inverno, mesas e prateleiras com livros, novos títulos na vitrine e, nas paredes, fotografias de escri-
tores famosos, vivos e mortos”, com destaque para Walt Whitman, Edgard Allan Poe e Oscar Wilde, e ainda Joyce, Pound e DH Lawrence. Pois bem: passados esses anos maravilhosos e narrados de forma deliciosa e convidativa pela própria Sylvia Beach no mais que recomendável Shakespeare and Company. Uma livraria na Paris do entre-guerras (Casa da Palavra, 2004), a tragédia retorna com a eclosão do novo conflito mundial e, com a ocupação de Paris pelos nazistas, a livraria é fechada em 1941. Sylvia chegou a ir para um campo de concentração, mas escapou com vida. A livraria, não. Hemingway, junto com as tropas norte-americanas que libertaram Paris em 1944, foi quem recuperou as instalações da mais importante livraria da cidade, talvez do mundo ocidental de então. Mas Sylvia preferiu não retomá-la, e nunca mais abriu suas portas. Início dos anos 1950. O quarto abarrotado com livros, onde George servia a sopa àqueles que apareciam por lá, foi se tornando pequeno ao mesmo tempo em que crescia a idéia de Revista Literal 63
abrir uma livraria, com Paris retomando pouco a pouco a normalidade de uma vida sem guerra. O lugar ideal, porém, ele acharia em 1951: uma mercearia árabe em frente à catedral de Nôtre-Dame, do outro lado do Rio Sena, conhecido com o quilômetro zero da Cidade Luz. Endividados, os proprietários árabes a venderam baratinho, algo como 500 dólares, calcula hoje George. Então, aos 37 anos, nomeou sua livraria de Le Mistral; ela ocupava metade do primeiro andar da atual Shakespeare and Company, mas já contava com uma cama instalada nos fundos para os amigos que precisassem de um lugar para pernoitar, além da sopa no fogo para matar a fome. Começava naquele ano uma incrível história de amor aos livros, aos escritores, de solidariedade àqueles que simplesmente precisam de uma cama, um chá, alimento, livros e um espaço para se dedicar aos seus escritos. Paris recomeçava outro glorioso momento literário, e a livraria de George atraía Henry Miller e Anaïs Nin, George Plimpton e os demais que faziam a Paris Review – responsável por grandes e memoráveis entrevistas com alguns dos principais autores do século XX, como Faulkner, Hemingway, Nabokov, Miller, Capote, Kerouac, Mailer, Beckett, entre muitos outros – Samuel Beckett, alguns dos beats, como William Burroughs e Allen Ginsberg. [NE. A Companhia das Letras vem relançando As entrevistas da Paris Review; já saíram dois volumes.] Nessa época, a livraria ainda se chamava Le Mistral. George era um devoto e conhecia Sylvia Beach, que continuou a morar na cidade depois de fechar sua livraria, e ela visitou a loja de seu conterrâneo. Porém, somente após a morte, de Sylvia em 1962, é que ele adquiriu a coleção de livros da fundadora da primeira Shakespeare and Company e renomeou sua livraria em homenagem a ela. George não teve coragem de pedir autorização a Sylvia para se apropriar do nome. Acreditava que ela consentiria de bom grado, mas uma negativa colocaria por água abaixo a idéia, mesmo após a sua morte. Por isso, em 1964, quando se comemorava os 400 anos de nascimento do 64 Revista Literal
bardo inglês, a Shakespeare and Company e, de certa maneira, a sua tradição e tudo o que evocava estavam de volta. A livraria foi crescendo ao longo das décadas. Conforme os vizinhos faleciam ou se mudavam, George foi adquirindo os demais apartamentos do prédio, inicialmente construído no século XVI para abrigar um mosteiro. Assim, a Shakespeare and Company foi se tornando o que é hoje ao longo destes 56 anos, com um acervo em torno de 50 mil livros, metade deles compondo a biblioteca, e por onde passaram, segundo os cálculos de seu proprietário, algo como 100 mil escritores, que lá dormiram, tomaram chá e sopa e ajudaram com uma hora diária de trabalho que George impõe a quem lá decide pernoitar, seja por uma noite, uns dias, semanas ou mesmo meses, nas camas que ele acrescentava conforme a loja ia crescendo, onde houvesse um pequeno lugar para colchões e colchas. Hoje, elas passam de dez. Ao chegar ao segundo andar, é possível ler na parede: “Não seja um mau anfitrião para os estranhos, pois eles podem ser anjos disfarçados”. Nada mais exato para a imensa boa vontade de George, que é eternamente grato aos latino-americanos que o receberam, muitas vezes cuidaram da sua saúde e o alimentaram durante sua jornada a pé pela América Central. Deve vir daí essa generosidade toda. Generosidade sobretudo para com os escritores, que ficam com os melhores quartos, onde é possível ler na entrada de um deles: “Escritor trabalhando. Por favor, não perturbe”. Como se vê – e se lê –, um lugar onde o ofício e a arte da escrita são levados a sério. E o carinho e gratidão destes milhares que freqüentaram e dormiram na livraria pode ser observado no “Espelho do Amor”, onde bilhetes, fotos, cartas, postais, recados preenchem o espaço, agradecendo, lembrando, saudando, retribuindo um pouco a gentileza. Todos os que por lá passaram também deixaram uma pequena biografia, inicialmente uma exigência da polícia, que obrigava George a, diariamente, levá-las ao distrito policial, uma aporrinhação dos anos 1960 logo deixada de lado, mas que depois acabou por se tornar uma tradição da casa.
Reprodução
cidade, avaliada hoje, segundo seu proprietário em US$ 5 milhões. Mas George, hoje aos 93 anos, não pensa em abandonar sua livraria. [NE. Ele faleceu no final de 2011, aos 98 anos.] Hoje, quem cuida do local é sua filha, Sylvia Beach Whitman, não por acaso assim batizada. Depois de morar em Londres com a mãe na adolescência, ela retornou a Paris, motivada, segundo Mercer nos conta, por uma viagem dele a Londres. Há três anos ela vem se familiarizando com a livraria, sua clientela, que vai dos vagabundos escritores aos turistas japoneses munidos de suas máquinas fotográficas que, vez por outra invadem o número 37 da rue de la Bûcherie. E, se aos poucos a livraria vai se adaptando aos tempos que correm, passando a aceitar cartões e cadastrando o acervo em computador, basta um passeio pelos seus estreitos corredores e escadas para se inteirar com a história que transpira das estantes, fotos e salas. Quando em Paris, passe por lá, para um chá, uma leitura de poetas, uma estadia, uma visita, uma leitura em frente à loja em seus bancos na praça. A literatura agradece•
Reprodução
“Em vez de simplesmente anotar as frias informações pessoais, pedia que as pessoas escrevessem um pequeno conto sobre suas vidas e como chegaram à livraria. O hábito foi mantido muito depois do fim do cerco policial, e hoje George tem um arquivo de maravilhas sociológicas: dezenas de milhares de biografias escritas entre a década de 1960 e hoje, uma vasta pesquisa dos grandes vagabundos dos últimos quarenta anos. A missão de colocar a vida em palavras era uma oportunidade de confissão para muitos, e nas caixas abarrotadas de arquivos há histórias de amor e morte, incesto e vício, sonhos e desilusões, todas com uma fotografia três por quatro colada nelas.”  Quem escreve é Jeremy Mercer. Jornalista canadense, ele trabalhava em um jornal na seção de polícia no interior de seu país natal, quando se viu envolvido em uma roubada que envolvia um assassino que resolveu persegui-lo por ter seu nome revelado em um livro de Mercer. O jornalista resolveu então se mandar para Paris, e o fez meio que na correria. Lá, logo se viu com pouco dinheiro e sem saber o que fazer, quando, em um dia de chuva, foi se proteger exatamente na livraria do chamado Ponto Zero de Paris. Uma piscadela da gata preta, Kitty, que vive entre os livros (e desapareceu em outubro, mas, quem sabe, volta em breve), um convite da balconista para o chá naquele domingo mais tarde e pronto. Mercer foi se familiarizando com o ambiente e não titubeou em tentar uma vaga na livraria. O canadense passou alguns meses por lá, ajudando diariamente na livraria, se relacionando, brigando e se envolvendo com os outros moradores, como um chinês, um argentino, um norte-americano, escritores, poetas e alguns picaretas, aprendendo a sutil convivência com pessoas de origem tão díspares, unidas ali por um interesse comum nos livros, a serem lidos e escritos. Este período na livraria e em Paris estão relatados em Um livro por dia. Minha temporada parisiense na Shakespeare and Company (Casa da Palavra, 2007) – um delicioso e imperdível relato dos dias ao lado de George, as dificuldades que enfrentou, com as constantes tentativas de removê-lo e à sua livraria da região nobre da
Revista Literal 65
Reprodução
66 Revista Literal
Luz sobre Faulkner Visto da primeira década do novo milênio, e de uma posição estritamente latinoamericana, não é impossível notar que seu trabalho é o mais influente da prosa de expressão inglesa do século passado. Por Vinicius Jatobá Publicado originalmente em março de 2007
Na instável crônica da leitura no último século, matizada por reviravoltas constantes nas posições de estratégias de recepção do livro – psicanalítica, marxista, vanguardista, religiosa, formalista, etc. –, raros foram os autores que sobreviveram, década após década, às metamorfoses exigidas ao leitor: o trabalho de William Faulkner, nesse ambiente movediço, revelou-se polissêmico – reinvidicou para si todos os sentidos possíveis, e disseminou energia criativa em poéticas de naturezas diversas, muitas vezes contraditórias entre si. O gigante literário Faulkner foi moto-contínuo tanto da França existencialista quanto da Argélia em independência – uma concordância possível entre rivais indispostos ao diálogo. De sua obra irradia sempre alguma substância que saciará os olhos de quem a lê; e para os mais diversos propósitos, Faulkner foi mestre. Visto da primeira década do novo milênio, e de uma posição estritamente latino-americana, não é impossível notar que seu trabalho é o mais influente da prosa de expressão inglesa do século passado: porque nele o melhor da prosa da tradição do grande romance francês, inglês e russo aflui e se mistura, reinventa-se, nas águas turvas do primeiro avançar modernista de Joyce, Woolf e Proust. Aos olhos dos
outros escritores a leitura regular de Faulkner possibilitou uma educação – experimentar em movimento um amálgama onde o núcleo duro do grande romance realista do século XIX se funde às técnicas modernistas e, principalmente, a uma sensibilidade modernista, sem que nesse processo o gosto das grandes narrativas, o exercício extremado da caracterização das personalidades e o sentido ético e político da análise social perdessem centralidade quando confrontadas ao exibicionismo formal vazio que praticamente se tornou o maior coronário do envelhecimento das vanguardas. Se for procedente a afirmação de que nada envelhece mais rápido que uma novidade, a novidade faulkneriana ainda diz muito ao mundo de hoje; Faulkner é um mestre porque é ainda uma escola. Seja em Juan Benet, na Espanha, no francês Claude Simon, nos latino-americanos García Márquez, Juan Carlos Onetti e Juan Rulfo, ou no japonês Kenzaburo Oe, foi na escola faulkneriana que muitos alunos brilhantes se graduaram e encontraram os caminhos para desvendarem seus mundos particulares e os conflitos sociais que os cercam. No entanto, se foi constante a recepção do escritor entre seus pares, a problemática da irregular procura do público geral por suas Revista Literal 67
narrativas – seja em vida, enquanto tinha dificuldades para vender relatos no mercado de contos, seja após seu falecimento quando sua obra cada vez mais se tornou alvo de leituras específicas do universo acadêmico, do público que lê a partir de uma lupa determinada, de um filtro teórico e ideológico que não é o filtro de leitor ingênuo – essa problemática talvez encontre seu motivo não na dificuldade da retórica do romance de Faulkner, mas possivelmente na percepção de que ele é um escritor mais literário do que à primeira vista pode-se notar. Para quem leu Balzac, Conrad, Lawrence, para quem leu Flaubert, Cervantes, Mann, ou seja, para quem possui na mente algo do funcionamento da tradição do romance, Faulkner não apresenta grandes dificuldades além do inicial contágio árido de seu universo muito próprio e singular, mas que pode ser vencido em algumas dezenas (talvez melhor: centenas) de páginas.
denúncia da hipocrisia aristocrata, o romance da crise entre a cidade e o rural tão tipicamente inglês, ou seja, ele se torna mais fácil (ou menos complicado) de se ler e reconhecível a partir do momento que a experiência com livros se torna mais intensa, íntima, porque de certa forma Faulkner é um romancista do século XIX com uma sensibilidade modernista, um artista que evolui tecnicamente quase todos os processos que o precedeu; não inventa a roda – simplesmente lhe dá uma rotação de voltagem individual e singular. Não é sem motivo que Faulkner considerava Thomas Mann o maior escritor europeu de seu tempo – os dois tinham o mesmo projeto e atitude em relação à tradição; no entanto, o que os tornava diferentes é que enquanto o patrono de um era Goethe, uma modernização arcaica fundada em valores que o romance burguês amenizou e ironizou, Faulkner insurgiu sua modernização na maré do contemporâneo, desmontando
O som e a fúria pode ser um livro impossível para o leitor acidental, mas não o será para quem conhece a tragédia grega; Enquanto agonizo pode assustar o ingênuo, mas é revelação para quem conhece o romance epistolar francês; Absalão, Absalão é um emaranhado confuso de vozes para o desavisado, mas para o leitor do Velho Testamento e da poesia metafísica inglesa e dos grandes romances tardios de Dostoievski será um exercício de reescritura lírica convulsiva. Nesse sentido Faulkner é de dificuldade apenas relativa: como grande leitor ele escreve a partir da sua experiência de leitura, vasta e plural, mas o que ele escreve é o próximo passo do romance que já existia, que o precedeu, o romance realista político, o romance de
os procedimentos estilísticos de Joyce (contraponto, fluxo de pensamento, narrativa indireta subjetiva) e Proust (a frase que sustenta num mesmo tempo verbal passado e presente) e selecionando no mundo técnico nascente que o cercava apenas o que lhe interessaria para fazer pelo seu solo natal o que seu grande modelo, Balzac, fez pela Paris de seu tempo.
Enquanto os outros escritores americanos gravitavam ao redor de Gertrude Stein em Paris, Faulkner fazia o que o caminho árduo de todo escritor sério: lia a tradição, e aprendia com ela
68 Revista Literal
Nesse ponto a localização de Faulkner na vanguarda é instável, e pelos seguintes motivos. Toda vanguarda essencialmente é um movimento de “ruptura” com o corpo central de determinada expressão artística, é uma tentativa de desestabilizar o modo habitual de um momento de ler, assistir, ver ou escutar. Apesar de sua aparência de avanço restrito ao campo
das propostas formais e idéias e sensibilidade, a vanguarda tem mais relação com questões de política no campo da arte, de encontrar um espaço dentro do cenário já ocupado por uma geração anterior; sua estratégia é sempre denunciar o envelhecimento da retórica em vigência propondo em seu lugar algo que nasce, no entanto, geralmente mais do mero desejo de antagonismo do que de um desenvolvimento de necessidades expressivas. Em primeira instância, ela é intelectual em suas soluções, propondo fórmulas gerais que condenam todo restante, e intelectual também ao público que se destina. Nesse ponto, apesar do ar sério que elas possuem, há algo de extremamente juvenil e superficial em toda vanguarda – ela é dada mais há grupos que poéticas singulares, e na ebulição de valores que provoca acaba por estabilizar não a raríssima proposta artística mais original dentro do movimento, mas sim institucionaliza o artista geralmente mais hábil no manejo político que expressivo. Uma vez que encontra um espaço onde não tinha, a vanguarda perde a força e a novidade logo envelhece e se estabiliza ao lado daquilo que antes combatia. A maliciosa afirmação de que em arte onde há grupo há fraquezas individuais não fica tão improcedente assim – o manifesto irônico, o grito e o escândalo são as estratégias usuais da vanguarda quando tenta se colocar em evidência, e acaba propondo como música, ruído, como prosa, emaranhado, e o grito definha logo que os componentes anti-institucionais se institucionalizam. Faulkner parece alheio à fome da novidade tão particular ao seu tempo (e que sobreviveu bem por quase todo século). Como todo grande inovador, Faulkner é conservador e tacanho e de curiosidade restrita. Não sistematizou seu pensamento, nem participou de manifestos: enquanto os outros escritores americanos gritavam em Paris e gravitavam ao redor de Gertrude Stein, Faulkner fazia o caminho árduo de todo escritor sério: lia a tradição, e aprendia com ela. Namorava o passado para encontrar nele a sempre difícil e arriscada aventura não da literatura radicalmente diferente do amanhã, com seu espantoso novo corpo textual e
suas idéias cintilantes, mas sim encontrar o desenho tímido do próximo passo que a tradição permite e que, de certa forma, está já nela para ser dado. Longe de ser vanguarda, ou de se encaixar no sentido que essa palavra tem numa caracterização mais geral, Faulkner é mais um conservador que lê a tradição e se apropria dela de forma coerente ao universo que deseja expressar. O legado de Faulkner é amplo, mas possui uma peculiaridade: tirando alguns poemas e artigos para jornais – escritos na urgência da luta pelos direitos civis, na década de 1950 –, toda obra de Faulkner é essencialmente narrativa. São 17 romances e quase seis dezenas de relatos. Não há ensaios que indiquem diretamente sua poética, nem comentários críticos (resenhas e artigos) sobre outros escritores que revelem, de forma tangencial, o que se passava na sua mente criativa. Sua correspondência mais farta é para sua mãe, escrita nos meses em que viajou pela Europa quando tinha 26 anos, e nessas cartas Faulkner ainda não sabia que era Faulkner. O restante de sua correspondência, mesmo no auge de sua fama, fala de seus assuntos prediletos: bebida e dinheiro. Não há nele cartas chorosas sobre crises criativas; quando muito, a única confissão que comete é financeira, geralmente tentando arrancar adiantamentos de agentes e editores. Sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro; nisso também se assemelha a Balzac. Dessa forma, tirando o interessante prefácio à segunda edição do romance O som e a fúria, onde ele praticamente faz um plágio criativo de um prefácio muito admirado de Conrad, são escassas as explicações de Faulkner ao seu próprio trabalho. E quando o explica, como na entrevista que deu à Paris Review, é jocoso e irônico, falando por meio de lugares-comuns e sempre levando para o mundo do trabalho manual e prático aquilo que outros autores explicam com afetação e enfado. Dessa forma, e ao contrário de outros grandes escritores, o contato com o mundo de Faulkner se dá direto pelo seu universo ficcional – não há atalhos, não há mapas, ensaios indicativos, pequenas piscadelas sugestivas: a missão do leitor é entrar na floresta indistinta e se emaRevista Literal 69
Obsessões, neurose e política. De uma forma geral, abrangente, o universo de Faulkner se desenha sobre temas sempre rematizados por caminhos distintos. Usando um artifício de Balzac, Faulkner cria um mundo ficcional onde as personagens transitam entre os livros. Determinada personagem pode ser narradora num trecho de um romance, surgir rapidamente num conto, para depois ser a ouvinte de uma estória qualquer numa taverna ou bar em uma novela. O condado de Yoknapatawpha é o cená-
maníacos, e bem-humorados comerciantes e caixeiros-viajantes, fazendeiros, mestiços, donos de vendas e quitandas, filhos bastardos. Seus temas são obsessivos, suas personagens neuróticas, seus narradores confusos e passionais: a casa desfeita pela guerra (The Unvanquished), a honra maculada pela covardia (The Bear; O som e a fúria), a perversão e violência sexual (Sartoris; Santuário), o drama da cor negra (Absalão, Absalão; Luz em agosto); a modernização da economia e o poder que deixa de ser articulado pela terra ou posição militar e se organiza ao redor apenas do dinheiro (Absalão, Absalão; a trilogia Snopes); o choque cultural do elemento estrangeiro (Intruder in the Dust), a impossibilidade de diálogo entre
rio dessas estórias; a cidade do condado chama-se Jefferson, e todo esse mundo é alimentado pela mitologia do grande rio Mississippi. É uma metáfora vivaz do Sul Profundo – o espaço crivado pelas cicatrizes da grande Guerra Civil americana e que traz a marca dessa morte radical e abrupta de toda uma ordem vertical e bem-estabelecida: a humilhação de uma tropa militar que por um século foi o orgulho do país, a derrocada das famílias aristocratas que reuniam em suas mãos o poder econômico e político da região, e uma ordem agrária destroçada e desarticulada e se modificando numa América que de repente desejou esquecer muito rápido um sistema que por muito tempo a sustentou. Como Balzac, Faulkner também se ocupa em criar as mais diversas personagens: em sua obra retrata todas as classes sociais, e há espaço tanto para os párias e mendigos como para os negros e os índios e antigos aristocratas e filhos de generais e pastores, políticos; tem a voz crianças, mulheres, loucos, tarados,
as diversas classes sociais (a novela Palmeiras selvagens), a dificuldade da aristocracia em lidar com seu novo lugar na sociedade (O som e a fúria); a mitologia do Mississippi (The Reivers), a força da natureza (a novela O velho, em Palmeiras selvagens); a hipocrisia e moralismo (Requien for a Nun); a imensa autoridade da religião (Luz em agosto); a impossibilidade dos negros (e índios) em se reintegrar à sociedade após da abolição (Go Down, Moses); e o conflito entre os valores aristocráticos rurais e aqueles professados pelo norte liberal e democrático (Absalão, Absalão; O som e a fúria). A ruptura abrupta e violenta da ordem militar e latifundiária e seus coronários que se manifestam até mesmo décadas após o fim da guerra civil – esse é o conflito motor de todo panorama social que Faulkner criou. A publicação de Luz em agosto (Cosac Naify, 2007) cria uma nova oportunidade para a aproximação dos leitores. É provável que não seja seu melhor livro, pódio esse ocupado pelo
ranhar no seu material obsessivo e vigoroso. Aprende-se a ler Faulkner lendo-o: como ele mesmo afirmou certa vez, se não entendeu na primeira leitura, repita-a – está tudo ali.
O condado de Yoknapatawpha é o cenário dessas estórias, alimentada pela mitologia do grande rio Mississippi, uma metáfora vivaz do Sul Profundo
70 Revista Literal
selvagem, contagiante e desesperante Absalão, Absalão, o livro mais obsessivo do mundo. Porém, é certo que junto de Enquanto agonizo, Luz em agosto é a melhor porta de entrada para o árido universo da obra de Faulkner. É um romance eminentemente político (Faulkner é um escritor engajado) – um olhar demorado e amplo sobre o racismo e preconceito na sociedade sulista americana. Não é ingênua a introdução nesse mundo romanesco pelos olhos esperançosos de uma menina grávida – Lena Grove. Ela vem de muito longe, desconhece a história da cidade, seu olhar será o mais próximo ao do leitor quando as coisas mais horríveis começarem a acontecer após as primeiras duas centenas de páginas dimensionarem a mente e passado de todas as principais personagens da trama.
Luz em agosto: apogeu da narrativa em terceira pessoa. O tema do romance pode ser a impossibilidade de escapar do seu passado; como ele o encontrará não importa para onde se escape. Quando o motor do romance parece ser a busca de Lena ao pai de seu filho, que a leva até a cidade de Jefferson, percebe-se que a energia do livro virá do solitário e misterioso Joe Chistmas, outro forasteiro cuja vida pretérita ocupará uma parcela significativa do romance: sua vida no orfanato, o desconhecimento de sua origem e a tortura mental de não saber se é verdadeiramente negro, se possui sangue negro. Ele vive com uma mulher mais velha que ele, Joanna Burden, neta de abolicionistas, o que a faz odiada pela cidade; Joe Chistmas, de certa forma, pagará na carne o preço desse ódio e preconceito quando Joanna é assassinada, logo no início do romance – o crime não será resolvido, e de certa forma o importante é o que ele revelará de mesquinho e selvagem no coração da população da cidade: a cor negra só pode ser a única culpada, sempre. Byron Bunch, um homem que logo se apaixona por Lena Grove, é outro olhar importante do romance, já que é ele que lhe apresenta a cidade e cuida dela; e é ele que tentará poupar a menina do espetáculo cruel do mundo ao seu redor. Outra per-
William Faulkner (1897-1962), por Loredano
Revista Literal 71
sonagem central é Gail Hightower, reverendo marginalizado pela cidade e expulso da igreja em decorrência de um escândalo envolvendo sua esposa. Ele vive na cidade, apesar de ser ignorado por seus habitantes; é um homem amargo e sem esperanças, descrente de sua fé e que vê a vida passando sem de certa forma participar dela. É ele que será o elo entre as duas outras personagens principais, o homem que poderá agir para ajudá-las, e será por suas mãos que o filho de Lena virá ao mundo. Há em Faulkner uma dívida evidente à tragédia grega e a retórica bíblica: destino, fatalidade, fortuna – o narrador faulkneriano se assemelha em muito ao coral da tragédia: são os olhos que sabem o que acontecerá, que narram com a energia focada em um desfecho que se torna logo, para apreensão do leitor, evidente demais. Ninguém escapa de seu passado; ninguém escapa do seu sangue; os filhos pagam os erros dos pais; só a dor gera lucidez e sabedoria. Muitas das técnicas de Faulkner estão nesse romance, destiladas numa retórica que mistura tanto o gênero da narrativa de formação (a peregrinação de Joe Chistmas e sua educação) como certas convenções do romance policial (o acumulo de tensão, a omissão de certas informações, o mistério da trama). Se o leitor em Enquanto agonizo terá contato com as potências na narrativa em primeira pessoa (cada capítulo é narrado por uma personagem), Luz em agosto é o apogeu da narrativa em terceira. É impressionante a técnica de Faulkner: cada capítulo se inicia com um corte abrupto do anterior e o narrador, apesar de conhecer tudo que ocorre, sempre se aproxima da mente de uma personagem e filtra o mundo que lhe cerca a partir de sua perspectiva e experiência particular: uma narrativa em terceira pessoa com interiorização mental. Muitas vezes, quando narra o passado de determinada personagem (como no brilhante capítulo 3, que conta a vida do reverendo Hightower pelo que Byron Bunch escutou dos outros, uma estupenda aula de literatura), Faulkner opta pelo relato indireto de uma pessoa que presenciou aquela vida, e que de certa forma a narra também de sua experiência – seus valores, aquilo que crê, seus preconceitos e expectativas. Esse acúmulo de diversos olhares e modos 72 Revista Literal
de viver é que cria a riqueza das personagens – nunca temos qualquer afirmativa sobre o que ela é já que as fontes podem, simplesmente, estar mentindo (algo que ocorre muito no mundo de Faulkner); também o que sente é dúbio, já que sempre se escuta a interpretação do narrador ou de alguma testemunha que imagina os pensamentos que chegam ao leitor apenas por retalhos, frases em itálico soltas e rápidas, sem pontuação. Um terreno movediço onde o leitor nunca está numa posição confortável – ele também busca na trama tênue a verdade, ele monta o romance, junta as pistas que o narrador vai expondo de forma desordenada. Não apenas os livros de Faulkner são diferentes entre si; no corpo de um romance, geralmente, a retórica muda de capítulo em capítulo: é como se cada personagem demandasse uma abordagem diferente, não apenas na técnica como no vocabulário e ritmo de pensamento. Faulkner não apenas eleva a potência dessas vozes; ele as faz ter coerência, reconhece seus limites, vê nelas o que do mundo lhes importaria realmente, e lhes dá algo fascinante: a impressão que aprendem conforme vivem a estória, porque é muito visível a maneira como vão mudando ao longo do romance. Nenhuma dessas personagens de Luz em agosto termina da mesma forma que iniciou o livro – a maternidade transforma a menina Lena em mulher; o amor de Byron Bunch retira de seu coração o peso do egoísmo, ter vidas tão frágeis em suas mãos fazem que o reverendo Hightower reencontre sua fé, e até o pobre e macerado e devastado Joe Chistmas encontra na dor uma redenção que dá sentido a sua vida repleta de buscas frustradas. De certa maneira, o leitor também muda ao ler Faulkner – a relação que se estabelece com as personagens é inusual: pelo acúmulo, pela convulsão, o leitor em retrospecto acaba por ver que todos os nós se reúnem; afinal, ler Faulkner é conhecer a dor do próximo, e se ver nela. Uma experiência de leitura muito diferente da convencional – o melhor da tradição realista deformada pela urgência visceral dos sentidos• Vinicius Jatobá é escritor e crítico literário
Décio Pignatari: Poeta, pois é, poeta Uma revisita à vida e obra do poeta nos seus 80 anos; Pignatari nos deixou no final de 2012, aos 85. Por Omar Khouri Publicado originalmente em agosto de 2007
Uma das coisas que se depreendem do estudo das revoluções operadas na linguagem, dentro dos Modernismos, é a de que os artistas mais revolucionários, os protagonistas de movimentos ou os de atuação individual, eram invariavelmente aqueles que mais conheciam a tradição: se músicos: a Música, se pintores: a Pintura, se poetas a Poesia (o que vem a significar principalmente o domínio do verso). Esses tais revolucionários eram os que Ezra Pound chamou de inventores: “Homens que descobriram um novo processo ou cuja obra nos dá o primeiro exemplo conhecido de um processo”. Décio Pignatari, co-inventor da Poesia Concreta (dividiu essa invenção genial com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos + Eugen Gomringer, poeta suíço-boliviano radicado na Alemanha nos anos 50 do século passado). Antes, Décio Pignatari já era um excepcional verse-maker: sua poesia em versos possuía uma força estranha e fascinante. Veja-se o seu fernando-pessoal (como ele-mesmo costuma dizer da peça, em tom de brincadeira) “Eupoema”, de 1951, cuja primeira publicação é de 1952: EUPOEMA
O lugar onde eu nasci nasceu-me num interstício de marfim, entre a clareza do início e a celeuma do fim. Eu jamais soube ler: meu olhar de errata a penas deslinda as feias fauces dos grifos e se refrata: onde se lê leia-se.
Eu não sou quem escreve, mas sim o que escrevo: Algures Alguém são ecos do enlevo.
Sempre se fala em Décio Pignatari como alguém polêmico e brilhante que, tendo despertado para a vida em Osasco, acabou por se radicar em São Paulo, identificando-se com a Paulicéia, dado o caráter urbaníssimo e ligado às novas tecnologias do seu trabalho. Porém, Décio Pignatari é natural da cidade de Jundiaí, interior do Estado de São Paulo: nasceu em 20 de agosto de 1927, dia em que comemora seu aniversário, muito embora no registro conste 21. Figura de muitos fazeres e afazeres, Pignatari exerceu brilhantemente o Magistério: foi como professor universitário (pleno de idéias, diga-se) que ele conseguiu um maior número de admiradores, com aulas aguardadas com ansiedade, incríveis: sempre um lance de extrema inteligência, uma interpretação não-esperada, uma revelação, um paradoxo. E deixou outros afazeres profissionais: nunca se entregou à profissão de advogado – formado que era em Direito, pela Faculdade do Largo de São Francisco – e fechou sua agência de publicidade, mesmo não estando no vermelho e tendo criado nomes até hoje em circulação, como o notável LUBRAX, exatamente para exercer a Docência, tendo passado pelo Rio de Janeiro (ESDI), por Marília, São Paulo (PUC e FAU-USP) e Curitiba, onde reside atualmente. Concomitantemente a outras atividades, exerceu o Jornalismo, escrevendo sobre Letras e Artes, Futebol, Política, Televisão etc. Revista Literal 73
Mas, o que teria, mesmo, a destacar é a sua vocação, desde muito cedo, para os afazeres da Poesia. Pois é, a POESIA. Sua produção, iniciada nos anos 40, foi reunida e publicada em livro – O Carrossel – pelo Clube de Poesia, em 1950, sendo surpreendente uma espécie de profecia que comparece não-assinada na primeira-orelha do volume: “Não sendo propriamente um nome inédito – pois é conhecido colaborador da Rev. Brasileira de Poesia e dos suplementos literários paulistanos, o Sr. Décio Pignatari é todavia um dos nossos poetas mais moços e um dos que se apresentam com melhores credenciais para um destino de realizações imprevisíveis”. Muito embora em inícios dos anos de 1950 nem tudo fosse Geração de 45 no ambiente paulistano e brasileiro, o peso da tal geração, com sua estética conservadora e mesmo reacionária, dominava o cenário. Nesse meio, a poesia de Décio Pignatari já surge trazendo índices de uma revolução poética, pensada em termos universais, que eclodiria poucos anos depois, com o advento da Poesia Concreta, movimento de vanguarda, ainda dentro do Complexo Modernista, que teve repercussão mundial. Assim, dentro desse contexto de vanguarda, Pignatari teve um papel fundamental como teórico, crítico, tradutor e poeta. Como teórico e crítico, sempre se caracterizou pela contundência de suas afirmações, pela radicalidade, não temendo atentar contra valores estabelecidos, arriscando, pensando-se como poeta brasileiro, mas fazendo parte de um contexto maior chamado Ocidente. Portanto, para operar enquanto fazedor, tomou, da mesma forma que os demais poetas concretos, como medida (referência), o que o mundo havia feito até ali, para poder operar dali para diante. E foi o que fez. Interessante notar que a Poesia Concreta, inovadora, poesia de inventores, diferentemente de outras vanguardas, empenhou-se em rastrear o passado, encontrar e separar o que este possuía de melhor, de mais importante e veio a fazer, através da tradução e da crítica, todo um trabalho de resgate, com o objetivo de organizar um Paideuma, como o entendeu Ezra Pound: um conjunto mínimo de poemas, com o máximo de informação estética, de modo a 74 Revista Literal
facilitar o trabalho dos iniciantes no universo da Poesia. Da tradição: o que ela possuísse de melhor. Como tradutor-recriador de poemas, Pignatari chegou a ser tridutor. Décio produziu, de meados dos anos 50 em diante verdadeiras obras-primas, peças antológicas, num conjunto não muito numeroso, diminuto até, se formos compará-lo com a média do que normalmente produzem os poetas aqui, como no resto do Mundo e eu citaria apenas, para começar: “Um movimento” (móbile: um Calder operando palavras no branco da página), “Terra” (uma visão aérea da lida da terra: uma divisão de terras no espaço em branco), “(Beba) Coca-Cola” (do anúncio ao anti-anúncio), “Life” (verdadeiramente um cine-poema, o poema que se gesta a si-mesmo e explode em “Life”), “Organismo” (peça em que opera um travelling com uma câmera computadorizada, em pleno 1960. Ou seja, antecipa toda uma série de possibilidades do então futuro), “Noosfera” (que ele insiste em classificar como prosa – de fato, chega a tanger o épico, um épico-relâmpago: a epopéia do mais-pesado-que-o-ar, que adentra o céu do cérebro). No “(Beba) Coca-Cola”, poema de 1957 (NOIGANDRES, 4, 1958), construído com o tipo futura (extra-bold), aplicando o rígido geometrismo, tão característico da fase dita ‘ortodoxa’ da Poesia Concreta, nota-se o espetacular encontro de inteligência e sensibilidade de que resulta a obra-de-arte. Partindo do famoso slogan beba coca-cola – perfeito em português, com seu ritmo trocaico; melhor do que o original em inglês, mesmo sendo deste uma tradução literal – sem acrescentar uma única letra, desconstrói-o, reconstruindo-o em forma de anti-anúncio (importante a audição da composição de Gilberto Mendes “Motet em ré menor”, de 1979). Aqui estão apenas alguns exemplos daquilo que faz de Décio Piganatari o maior olho tipográfico do século XX, juntamente com e. e. cummings. Tais trabalhos são parte obrigatória de qualquer antologia de poesia do século XX digna do nome e foram, juntamente com o restante de sua obra poética, reunidos em Poesia Pois É Poesia, depois Poesia Pois É Poesia Poetc, agora em portentosa edição da Ateliê Editorial + Editora da Unicamp.
Como teórico, juntamente com seus companheiros, em famoso texto/manifesto de 1958, deu um dos mais espetaculares tiros na tradição enquanto persistência-esclerose, “dando por encerrado o ciclo histórico do verso”, o que deixou muita gente furiosa. Polemista exemplar, sempre defendeu idéias (tinha por que lutar). E como as defendeu! Generoso e implacável, desenhou um tipo inconfundível para si, despertando o fascínio naqueles que tiveram olhos para as suas excepcionais qualidades e os ódios dos que, invejosos ou incapazes de compreender o seu trabalho, eram impiedosamente fulminados por seus argumentos. Nisso, era muito parecido e chegou a aprender com o pintor Waldemar Cordeiro, cujo legado está ainda para ser melhor avaliado. Parecido também – sempre se arriscou a ganhar um inimigo para não perder a chance de uma tirada genial: humorístico-destruidora – com o tão admirado por ele Oswald de Andrade que, no esmaecer da existência, recebeu os futuros componentes do Grupo Noigandres e se simpatizou especialmente com Décio Pignatari. Pignatari foi pioneiro dos estudos da Semiótica Peirceana no Brasil, despertando em muitos alunos o interesse pelo assunto, tratado tão brilhantemente em aula, como tratava todos os demais assuntos. Seus estudos de Semiótica e Literatura, Semiótica e as Artes, são excelentes modelos de abordagem, abordagem esta que valoriza sempre o objeto de estudo. Essa mesma Semiótica acabaria sendo um dos traços diferenciadores da PUC de São Paulo, dentro do panorama universitário brasileiro. Décio tem incursão, também, no campo da Prosa Ficcional e de Reminiscências, pertencendo a uma linhagem de ficcionistas experimentadores: O rosto da memória, contos, Panteros, romance, Errâncias, comentários suscitados por imagens fotográficas: prosa que chega às alturas de um Machado de Assis. E parece que prepara mais coisas dentro desse universo infernal, como ele-mesmo diz da Prosa, assim como tem-se ocupado do Teatro. Em outros momentos, fez coisas: teve participação importante no espetáculo neo-dada “Plug” e até chegou a propor um teatro hologrâmico.
Conheço Décio Pignatari, pessoalmente, desde fins de 1974-começos de 75, porém, já havia ficado impressionado com a defesa que fez de Rogério Duprat, num programa de TV chamado “Quem tem medo da verdade?”, em fins dos anos 60, assim como me marcou muitíssimo, dada a sua configuração gráfica, o poema “Organismo”, publicado autonomamente e na revista Invenção 5 e uma das coisas que sempre me intrigaram nele foi a sua capacidade de transformação, de assimilação das novas condições de ordem tecnológica (e nem precisaria dizer que foi dos primeiros artistas e intelectuais do Brasil que não tiveram problemas em conviver com as novas mídias e as não-tão-novas-assim, a exemplo da Televisão, sobre a qual refletiu e escreveu). Pignatari está completando 80 anos [NE. Em 2007], em plena atividade e com muitos projetos e com voz e ânimo de moço. Um dos maiores criadores do século XX, dotado da mais aguda percepção tipográfica da poesia dos últimos 50 anos. Pois é, Décio Pignatari se torna, neste 20 de agosto, octogenário. Disposto. Criando. Décio Pignatari se apresenta a mim como um daqueles que mais correspondem à idéia que eu tenho de POETA. Fazedor. Ser que possui consciência de linguagem e faz. Um “designer da linguagem” como chegou a dizer. Décio Pignatari: um poeta octogenário para muitos e muitos séculos. Poeta. Paroxisticamente Poeta. Auguri!• Omar Khouri é poeta, artista gráfico, editor e professor do IA-UNESP e da FACOM-FAAP.
Revista Literal 75
Cortázar: 30 anos sem o cronópio
Para marcar os 25 anos sem Julio Cortázar, completados em 2007, o Portal Literal publicou seu primeiro conto e seu último poema, em tradução do escritor maranhense Cassiano Vianna. Por Cecilia Giannetti Publicado originalmente em fevereiro de 2007
Publicado em La otra orilla (1945), o conto “O filho do vampiro” integra o capítulo “Plágios e traduções”, no qual Cortázar brinca com seus autores e gêneros preferidos – Poe, Verne, e histórias de suspense, vampiros e ficção científica. É considerado o primeiro conto escrito e dado por finalizado por Cortázar, em 1937. Já seu último poema foi escrito em 1983, na cama do hospital St. Lazare, em Paris. Nascido em Bruxelas e criado na Argentina, o autor morreria pouco tempo depois, na França, em 12 de fevereiro de 1984. “Negro el Diez” foi criado para uma série de desenhos do artista plástico Luis Tomasello. Durante o Ano Cortázar (2004), foi publicado em uma edição de luxo, de apenas 60 exemplares em serigrafia. “Eu me emociono imaginando Julio escrevendo isso, tendo entregado os pontos e querendo morrer, porque a Carol (sua mulher) já estava morta. Vi essas ilustrações/serigrafias; parecem chapas de raio-x, radiografias bizarras. Contam que ele pegou várias delas e começou a autografar assim: ‘É capaz de eu não passar de um mais um round, hermanito’”, afirma o tradutor, que prepara uma biografia de Cortázar em parceria com a curitibana Susan Blum. 76 Revista Literal
O filho do vampiro Julio Cortázar [Tradução: Cassiano Viana]
Provavelmente todos os fantasmas sabiam que Duggu Van era um vampiro. Não o temiam, mas deixavam o caminho livre quando ele saía de sua tumba, precisamente à meia-noite, e entrava no antigo castelo à procura de seu alimento favorito. O rosto de Duggu Van não era agradável, a quantidade de sangue ingerido desde sua suposta morte – no ano de 1060, pelas mãos de um menino, novo David armado de uma atiradeira-punhal – havia infiltrado em sua pele opaca a coloração mole das madeiras que ficam por muito tempo debaixo d’água. A única vida daquele rosto eram seus olhos. Olhos fixos na figura de Lady Vanda, adormecida como um bebê na cama que não conhecia mais que seu corpo leve. Duggu Van caminhava sem fazer ruído, a mistura de vida e morte que formava seu coração se resolvia em qualidades inumanas. Vestido de azul escuro, acompanhado sempre por um silencioso séqüito de perfumes rançosos, o vampiro passeava pelas galerias do castelo
buscando depósitos vivos de sangue. A indústria frigorífica o houvera indignado. Lady Vanda, adormecida com a mão sobre os olhos como em premonição do perigo, parecia um bibelô, um terreno propício ou uma cariátide. [NT. Figura humana, geralmente feminina, esculpida em fachadas de edifícios da Grécia antiga] Louvável costume de Duggu Van era o de nunca pensar antes da ação. Parado diante da cama, despindo com a levíssima mão carcomida o corpo da rítmica escultura, a sede de sangue começou a ceder. Se os vampiros se apaixonam é coisa que na estória permanece oculta. Se houvesse meditado, a condição tradicional o haveria detido talvez à beira do amor, limitando-o ao sangue higiênico e vital, porém Lady Vanda não seria para ele uma mera vítima, destinada a uma série de coleções, a beleza irrompia de sua figura ausente lutando, exatamente no meio do espaço que separava ambos os corpos, com a fome. Sem tempo para perplexidades, ingressou Duggu Van com voracidade estrepitosa no amor, o atroz despertar de Lady Vanda atrasando em um segundo as suas possibilidades de defesa e o falso sonho do desmaio houve de entregá-la, branca luz na noite, ao amante. Fato é que, de madrugada e antes de ir embora, o vampiro não pôde com sua vocação e fez uma pequena sangria no ombro da desvanecida castelhana. Mais tarde, ao pensar naquilo, Duggu Van sustentou para si que as sangrias resultavam muito recomendáveis para os desmaiados. Como em todos os seres, seu pensamento era menos nobre que o simples ato. No castelo foram realizados congresso de médicos, perícias pouco agradáveis, sessões conjuratórias e anátemas, e, além do mais uma enfermeira inglesa que se chamava Miss Wilkinson e que bebia genebra com uma naturalidade emocionante. Lady Vanda esteve longo tempo entre a vida e a morte (sic). A hipótese de um pesadelo demasiado verdadeiro foi abatida frente a determinadas comprovações oculares; e, além do mais, quando transcorreu um lapso razoável, a dama teve a certeza de que estava grávida.
Júlio Cortázar (1914-1984), por Loredano
Revista Literal 77
Portas fechadas com Yale [NT. Empresa especializada em trancas e fechaduras, cujos cadeados são famosos] haviam detido as tentativas de Duggu Van. O vampiro tinha que alimentar-se de crianças, de ovelhas, até de – horror! – porcos, mas todo o sangue lhe parecia água ao lado daquele de Lady Vanda. Uma simples associação, da qual não o livrara seu caráter de vampiro, exaltava em sua lembrança o gosto de sangue onde havia nadado, guloso, o peixe de sua língua. Inflexível sua tumba na passagem diurna, era preciso aguardar o canto do galo para pular, desfigurado, louco de fome. Não havia voltado a ver Lady Vanda, mas seus passos o levavam uma e outra vez à galeria terminada na redonda burla amarela de Yale. Duggu Van estava sensivelmente pior. Pensava, às vezes – horizontal e úmido em seu ninho de pedra –, que talvez Lady Vanda teria um filho seu, o amor recrudescia então mais que a fome. Sonhava sua febre com violações de trincos, seqüestros, a construção de uma nova tumba matrimonial de ampla capacidade. O paludismo se escondia nele agora. O filho crescia, quieto, em Lady Vanda. Uma tarde ouviu Miss Wilkinson gritar para sua senhora. A encontrou pálida, desolada, tocava o ventre coberto ao relento, e dizia: – É tal qual o pai, é tal qual o pai. Duggu Van, a ponto de morrer a morte dos vampiros (coisa que por razões compreensíveis o aterrorizava), tinha ainda a débil esperança de que seu filho, acaso possuidor de suas mesmas qualidades de sagacidade e destreza, maquinaria algo para trazer-lhe sua mãe algum dia. Lady Vanda ficava cada dia mais pálida e aérea. Os médicos maldiziam, os tônicos recuavam. E ela, repetindo sempre: – É tal qual o pai, tal qual o pai. Miss Wilkinson chegou à conclusão de que o pequeno vampiro sangrava a mãe com a mais refinada das crueldades. Quando os médicos se inteiraram da situação, falou-se de um aborto, plenamente justificável; porém Lady Vanda se negou, virando a cabeça como um ursinho de pelúcia, acariciando com a direita seu ventre ao relento. – É tal qual o pai – disse. – Tal qual o pai. 78 Revista Literal
O filho de Duggu Van crescia rapidamente. Não apenas ocupava a cavidade que a natureza lhe concedera, mas invadia o resto do corpo de Lady Vanda, que agora podia apenas falar, já não lhe restara sangue; e se havia algum, estava no corpo de seu filho. E quando veio o dia estabelecido para o alumbramento, os médicos disseram que aquele ia ser um parto estranho. Em número de quatro rodearam o leito da parturiente, aguardando que chegasse a meia-noite do trigésimo dia do nono mês do atentado de Duggu Van. Na galeria, Miss Wilkinson viu aproximar-se uma sombra. Não gritou porque sabia que não ganharia nada com isso, o rosto de Duggu Van não era de provocar risos, a cor terrosa de seu rosto havia se transformando em um relevo uniforme e cardão, em vez de olhos, duas grandes interrogações lacrimejantes se balanceavam sob o cabelo endurecido. – É absolutamente meu – disse o vampiro com a linguagem caprichosa de sua seita – e ninguém pode interpolar-se entre sua essência e meu carinho. Falava do filho; Miss Wilkinson acalmou-se. Reunidos em um ângulo do leito, os médicos tratavam de demonstrar uns aos outros que não tinham medo. Passavam a admitir mudanças no corpo de Lady Vanda, sua pele repentinamente escura, as pernas que se enchiam de relevos musculares, o ventre que se achatava suavemente e, com uma naturalidade que parecia quase familiar, o sexo que se transformava no contrário, as mãos que não eram mais as de Lady Vanda. Os médicos sentiam um medo atroz. Então, quando soaram as doze, o corpo que havia sido Lady Vanda – e era agora seu filho – se aprumou docemente no leito e estendeu os braços até a porta aberta. Duggu Van entrou no salão, passou frente os médicos sem vê-los e tocou as mãos de seu filho. Os dois, olhando-se como se se conhecessem desde sempre, saíram pela janela, a cama ligeiramente desarrumada, os médicos balbuciando coisas em torno dela, contemplando sobre as mesas os instrumentos do ofício, a balança para pesar o recém-nascido e Miss Wilkinson na porta retorcendo-se as mãos e perguntando, perguntando, perguntando•
Negro, o 10 1 Começa por não ser. Por ser não. O Caos é negro. Como é negro o nada.
2 Nasce a claridade, o galo esmigalha o céu, Inflam-se as cores vaidosas. Mas o negro se finca primitivo. Toda luz no carvão se abisma, no basalto.
3 Les physiciens appellent corps noirs tous ceux qui absorbent intégralement les radiations reçues. E.U. Para melhor lançá-los ao assalto do dia. (Goya poderia dizê-lo).
4 Escavação no sangue, na memória, o negro sabe a palavra, é a tormenta raivosa dos ódios e do ciúmes: Othello, o blackamoor, o mouro negro sempre, para o lívido Yago.
5 Pai profundo, peixe abissal das origens, retorno ao qual começo, Estigia contra o sol e seus espelhos, final das trocas, última estrela das mutações, palavra do silêncio.
6 Seu palácio noturno: o sonho, a pálpebra sedosa guilhotina do pavão-real diurno para que apenas as similitudes desdobrem seus tapetes de roxos, púrpuras e de óxidos, harém do negro, esperma dos sonhos.
7 Diria que ele gosta que o aplaquem, o despertem, o estendam em lisas superfícies, como se faz aqui. Diria que ama ser o trampolim de onde saltam as cores, seu calado silêncio. Tudo o mais contra o negro; tudo é menos quando falta. 8 Cedes a estas metamorfoses que uma mão enamorada cumpre em ti, te enches de ritmos, rachaduras, te transformas em tabuleiro, relógio de lua, muralhas de brechas abertas ao que observa sempre o outro lado, máquinas de contar cifras fora das cifras, astrolábio e guia de portos para terras nunca abordadas, mar petrificado no que resvala o peixe do olhar.
9 Cavalo negro dos pesadelos, machado do sacrifício, tinta de palavra escrita, pulmão do que desenha, serigrafia da noite, negro, o dez: roleta da morte, que se joga vivendo. 10 Tua sombra espera atrás de toda luz.
[Julio Cortázar, inverno de 1983/ Cassiano Viana, verão de 2005] Revista Literal 79
Paulo Henriques Britto O premiado poeta e tradutor de romancistas como Philip Roth e Thomas Pynchon fala sobre os seus ofícios e acredita que o puro leitor é um tipo cada vez mais raro Por Pedro Sette Câmara Publicado originalmente em novembro de 2007
Poeta premiado por Macau (Companhia das Letras, 2003), acaba de lançar Tarde (Companhia das Letras, 2007), que mantém o estilo aparentemente quieto e cheio de surpresas para quem quiser desparafusar os poemas: o que ali parece natural é profundamente calculado [NE. Assim como em seu livro mais recente, lançado em 2012, Formas do nada]. Britto também publicou um livro de contos, Paraísos artificiais (Companhia das Letras, 2004), e está sempre voltando às prateleiras como tradutor dos maiores autores norte-americanos vivos, como Philip Roth e Thomas Pynchon. Suas traduções, aliás, não só acabam com qualquer preconceito contra “ler em tradução” como ainda merecem ser admiradas por aquilo que acrescentam ao nosso repertório lingüístico, mantendo a naturalidade da língua de chegada e a memória do texto de partida. Paulo Henriques Britto também dá aulas e orienta alunos no Departamento de Letras da PUC-Rio, aproximando-se da figura do poeta acadêmico que teve na língua inglesa expoentes como W.H. Auden e o recém-aposentado Geoffrey Hill. O lançamento de Tarde foi um belo pretexto para fazer-lhe estas perguntas. Na página do departamento de Letras da PUC-Rio, você é o único professor que não tem 80 Revista Literal
link para o currículo Lattes. Ao mesmo tempo, tanto o último conto de Paraísos artificiais quanto o primeiro poema de Tarde são um tanto irônicos em relação à vida acadêmica e sua linguagem. Você também escreveu um diálogo, Lycidas, em que as idéias de Stanley Fish — muito importante quando passei pela graduação da PUC no fim dos anos 1990 — são questionadas. Estamos vendo aí uma continuidade entre pessoa física e persona literária, talvez em acordo com o que Drummond disse sobre “a crítica literária ter sido substituída pela crítica universitária”? Paulo Henriques Britto. Obrigado por me avisar que estava sem o link — já passei a informação para nosso webmaster! Bom, sem um pouco de ironia fica difícil conviver com qualquer ambiente de trabalho, não é? Creio que o mundo acadêmico, sob esse aspecto, não é melhor nem pior do que nenhum outro. Quanto às posições que defendo no meu artigo sobre Fish e outros, eu diria que me oponho a algumas idéias que são majoritárias no campo da teoria da tradução, mas não chegam a ser hegemônicas, e eu não sou de modo algum o único a se posicionar contra uma série de atitudes conhecidas atualmente como “pós-estruturalistas”. Não vejo a minha posição como contrária à academia, e sim como diferente da que é defendida por muitos (mas não todos) acadêmicos da área de tradução. Talvez essa mi-
Reprodução
nha oposição a autores muito influentes, como Fish e Derrida, e a uma tendência, difundida na área de Letras, a escrever de um modo um tanto, digamos, rebuscado (para não dizer ininteligível), tenha me levado a adotar uma visão irônica. Mas não tenho nenhum preconceito contra a academia, contra a crítica universitária. Temos um bom número de críticos universitários que fazem leituras interessantes de obras literárias, se bem que — verdade seja dita — muito mais no campo da ficção do que no da poesia.
Recentemente o jornal O Globo publicou uma reportagem que dizia que há dezenas de recitais de poesia acontecendo na cidade. Ao mesmo tempo, já vi a diretora de uma importante editora brasileira afirmar, até com muito bom humor, que todo livro de poesia no Brasil vendia 500 exemplares. Se há dezenas de eventos de poesia, onde está o público comprador de livros de poesia? Lendo tudo na internet? Eu diria que o público dos recitais de poesia não é o mesmo público que compra e lê livros de poesia. Aliás, de modo geral a poesia que é recitada nesses eventos não sobreviveria à transposição para o papel, do mesmo modo como muita poesia impressa não funcionaria muito bem lida em voz alta para uma platéia que busca entretenimento.
Hoje em dia é comum dizer que a poesia não tem função, e muita gente se pergunta sobre seu lugar na sociedade. Ainda sobre os recitais, você acredita que eles podem se firmar como uma circunstância própria da poesia? Ou haverá uma distinção entre o leitor solitário e o participante e espectador de recitais? Creio que já respondi a essa pergunta, até certo ponto, na resposta anterior. Quanto à posição da poesia na sociedade, costumo dizer que boa parte do espaço da poesia foi ocupado pela música popular, a partir do momento que surgiram cancionistas de excepcional qualidade, cujo trabalho supre as necessidades de lirismo da grande maioria da população leitora, inclusive de muitos leitores sofisticados.
Boa parte da poesia publicada hoje é metalingüística. O que você acha que veio primeiro, o que é causa de quê? O fechamento da poesia em si mesma levou a seu isolamento da vida social, ou primeiro ela foi isolada e depois se fechou em si mesma? Ou ainda, será que superestimamos a relevância social da poesia em tempos passados? Poesia metalingüística não é exatamente uma novidade. Vários dos sonetos de Shakespeare são de caráter metalingüístico. Mas é verdade que, a partir do modernismo, a percentagem Revista Literal 81
de poemas metalingüísticos só fez aumentar, e essa tendência continua em ação. Não sei se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha; o que está claro é que, na medida em que a poesia se torna mais metalingüística, ela passa a ter um público mais restrito, e quanto mais o público da poesia se restringe a poetas, escritores geral e estudiosos da literatura, maior a tendência à metalingüística. De novo, a ascensão da música popular desempenhou um papel importante nesse processo. Sob esse aspecto, podemos pensar também no que aconteceu com o romance em confronto com o cinema, num primeiro momento, e com a televisão posteriormente. São processos bastante semelhantes, ainda que o romance tenha sido menos afetado, em termos de perder leitores, que a poesia. Uma pergunta irresistível: você acha que conhece mais pessoas que lêem poesia e também escrevem ou pessoas que só lêem? Será o puro leitor de poesia um tipo raro no Brasil? É verdade, o puro leitor é um tipo cada vez mais raro. E creio que só tende a diminuir.
A poesia de língua portuguesa é dominada por católicos que escrevem em tons variados e místicos, como o Pessoa de “Mensagem”, Augusto dos Anjos e Cruz e Sousa que escrevem em tom mais solene. Sua obra, ainda que contenha um livro chamado Liturgia da matéria, não é propriamente anti-espiritualista, mas de um materialismo relativamente tranqüilo, antes constatando a não-transcendência do que se opondo a ela, ou, no máximo, ironizando-a. Você acredita que esta postura tem raízes na língua portuguesa ou é original sua? Eu lembraria que alguns dos mais importantes poetas brasileiros do século passado foram materialistas: Drummond e Cabral. E Vinicius também, após a fase espiritualista inicial. E mesmo Bandeira está muito longe de ser um poeta do espírito. Quanto a Augusto dos Anjos, se ele não é o poeta da matéria por excelência, eu não sei quem é! E em Portugal já havia o Cesário Verde. Não; sob 82 Revista Literal
esse aspecto a minha poesia nada tem de novidade. Sim, o meu materialismo é tranqüilo, no sentido de que a idéia de transcendência para mim simplesmente não se coloca — ela me parece de todo desnecessária e inconcebível. O único mistério, para mim, é que haja pessoas (e não são poucas!) que não sejam materialistas; é isso que requer uma explicação. Minha formação filosófica passou muito pelo positivismo lógico austro-inglês; meu filósofo predileto é Wittgenstein (que aliás era religioso, mas achava uma total perda de tempo falar sobre religião, que para ele era algo completamente alheio à esfera do racional e do dizível).
Auden tem um verso famoso, “Poetry makes nothing happen”, “a poesia não faz nada acontecer”, escrito em homenagem a W. B. Yeats, que foi um grande poeta político. A poetisa italiana Patrizia Cavalli também intitulou um de seus livros Le mie poesie non cambieranno il mondo, Meus poemas não mudarão o mundo. Ou seja: aparentemente, até os poetas já abdicaram de ser, na expressão de Shelley, “os legisladores nãoreconhecidos do mundo”. No entanto, em tempos de Bienal, muitas entrevistas dão a entender que os prosadores esperam alguns resultados práticos de suas obras. Além das diferenças óbvias entre prosa e poesia, haverá algo específico da prosa que justifique esta pretensão? Sim, na medida em que há uma tendência documental muito forte na narrativa, hoje como sempre. Boa parte da ficção brasileira contemporânea é uma espécie de neo-realismo ou neonaturalismo. E uma obra desse tipo pode ao menos ambicionar algum impacto sobre a realidade. O sujeito escreve um romance-denúncia contra a conivência entre o tráfico de drogas e a polícia, o livro faz sucesso, as autoridades são obrigadas a fazer alguma coisa… Com a poesia, isso é mais difícil de imaginar, ao menos hoje em dia. É claro que houve momentos em que a poesia teve algum impacto sobre a história: pensemos nos condoreiros e no movimento
da Abolição. E dizem que na Europa Oriental a poesia teve grande impacto político no período de dominação soviética. Seja como for, no momento a relevância política da poesia está claramente em baixa.
Parece haver um certo predomínio de uma visão hegeliana da literatura, como se esta tivesse que acompanhar obrigatoriamente um Zeitgeist. Não é incomum ver poetas e críticos dizendo que não é mais possível escrever assim ou assado, isso ou aquilo. No entanto, a pluralidade de opções estéticas na poesia contemporânea parece desmentir esta opinião. Onde você se situaria nesta querela? Será que não há a pressuposição cronocêntrica de uma uniformidade que o passado talvez não tenha tido? De fato, o momento é de pluralismo, eu acho isso muito bom. Estamos saindo da fase dos ismos, que durou pouco mais de um século no Ocidente — uma fase de exceção, digamos assim. Hoje não há mais sentido em pensar em termos de movimentos definidos, com programas e manifestos e fórmulas. Quanto às pessoas que acham que não se pode mais escrever assim ou assado, bom, elas tem o direito de achar o que quiserem; sou a favor da liberdade de opinião. Agora, quem faz essas afirmativas categóricas corre um sério risco de mais tarde ver que suas afirmações e previsões foram ignoradas solenemente pela realidade. Imagine com que cara não devem estar os poetas que decretaram a morte do verso nos anos 1950 e que, nos últimos anos, publicaram milhares de versos! Muitos autores são lidos em tradução, sobretudo aqueles que escreveram em línguas que poucas pessoas entendem, como russo, grego ou latim. Isto não os impede de ter uma influência tremenda. Qual seria o lugar da tradução no cânon da literatura? A tradução tem uma importância imensa no estabelecimento dos cânones literários. As obras mais canônicas do mundo ocidental — a Bíblia e os poemas homéricos — são lidas pela maioria esmagadora dos leitores em tra-
dução, agora e em todos os momentos históricos. Uma das coisas que me parecem mais interessantes no atual campo dos estudos da tradução é a ênfase que se tem dado a esse fato, que passou despercebido por tanto tempo. Sem tradução, simplesmente não haveria o cânon tal como o conhecemos.
Seus poemas chamam a atenção por nem seguirem a métrica mais careta nem serem escritos em “verso livre”. Há neles uma tensão entre as regras tradicionais e a fala cotidiana, numa busca evidente de naturalidade. Nas suas traduções de Byron e Bishop, no entanto, os metros estão mais próximos daquelas regras. Você diria que tem um projeto prosódico próprio, que não deseja impor aos autores que traduz? De fato, quando traduzo um poeta que utiliza uma forma fixa, eu tento na minha tradução utilizar o equivalente mais próximo a essa forma fixa que existe na língua portuguesa. Já quando escrevo minha própria poesia, gosto de utilizar formas fixas modificadas ou mesmo inteiramente novas, inventadas por mim, com base no repertório já existente. É esse o meu projeto prosódico, sim — isso, e mais a idéia de integrar fala coloquial com poesia; um projeto, aliás, que não é invenção minha, que vem desde o modernismo, de Bandeira e Mário de Andrade. Mas tradução são outros quinhentos. Não tenho o direito de impor minhas escolhas aos poetas que eu traduzo. Quando um poeta inventa uma forma, eu tento inventar uma forma análoga; mas se ele utiliza a oitava-rima ou o soneto italiano, sinto-me na obrigação de usar exatamente essa forma — ou a forma que corresponda mais de perto a ela, no português. Isso é uma questão de fidelidade ao original. Sim, eu acredito que a tradução deve ser fiel ao original. Aliás, eu acredito na existência de originais. Para você ver como eu estou em desacordo com as posições dominantes no campo dos estudos da tradução! • Pedro Sette Câmara é tradutor e intérprete
Revista Literal 83
Escritor bom é escritor morto Devem os novos escritores juntar seus cacos e formar uma Clarice Lispector inteira? Um Guimarães Rosa com cola Pritt? O colóquio Rumos Literatura 2007, no Itaú Cultural, investigou como a crítica vê o mosaico da literatura contemporânea. Por Cecilia Giannetti Publicado originalmente em março de 2007
Uma questão principal insinuou-se e repetiu-se em mais de um dos encontros do colóquio Rumos Literatura 2007, entre os dias 14 e 17 de março, no centro Itaú Cultural, em São Paulo. Em sua terceira edição, o programa abordou, este ano, a crítica com foco na produção literária contemporânea do Brasil. E acabou reprisando uma pergunta que deu título a outro colóquio, o Encontros de Interrogação, ocorrido em 2004 no mesmo Itaú Cultural: Cadê a nova Clarice Lispector? Cadê o novo Guimarães Rosa? A reprise não se dá por cochilo dos organizadores dos eventos em relação à programação. A insistência com que o tema sempre é retomado em qualquer debate sobre a produção literária brasileira atual; o fato de não se esgotar em uma, duas ou dez discussões; seu jeito vago de propor e esperar a chegada do Grande Romance Contemporâneo, aguardá-lo com cara de moça virginal e sonhadora à janela, tipo de moça que, como o Grande Romance, não existe faz tempo – tudo isso nos diz que estamos diante de uma busca crucial da crítica literária. Fora do universo em que essa questão consegue oxigênio para sobreviver, no 84 Revista Literal
entanto, no âmbito em que é produzida a nova literatura brasileira, tal busca insistente pode repercutir como disparate. Afinal, nos mesmos debates em que se lastima a ausência de uma Clarice ou de um Guimarães na prosa contemporânea, reclama-se do irremediável (não há cura para essa doença) aspecto fragmentado do romance contemporâneo. Devem os novos escritores juntar seus caquinhos e tentar, em mosaico, formar uma Clarice inteira? Um Guimarães com cola Pritt? A mesa “Funções e importância da crítica literária”, no dia 15, com Alcir Pécora, Beatriz Resende e José Miguel Wisnik, mediada por Regina Dalcastagné, evidenciou a importância de uma crítica aparelhada para avaliar a nova produção – e interessada por ela. “A crítica é contemporânea sempre, os objetos (que analisa), não,” afirmou o professor de Teoria Literária da Unicamp, escritor e ensaísta Alcir Pécora. Escrevam e morram. “Estamos na eminência da extinção do leitor, porque hoje todo mundo escreve. É um desequilíbrio absurdo. Escrevam menos, leiam mais. Escrevam e morram,” decretou Pécora. Na platéia, alguns jovens auto-
res talvez tenham desejado possuir ao menos um marca-passos, na falta de pontes de safena. De acordo com a fala de Pécora, é uma questão de “Saúde vs. Doença”, de “Luz vs. Trevas”: “Se estivéssemos vivendo a Era das Trevas nas letras, eu tomaria partido das Trevas,” devolveu, ao ouvir a pergunta da platéia dirigida a ele, “vivemos a Era das Trevas nas Letras?”. Sobre a possibilidade de encontrar textos novos de alguma qualidade literária na web, Alcir não tem dúvidas: “Eu acho a internet ótima para a pornografia, mas não sei se é boa para a literatura. Essas novas mídias geram um desastre, esse excesso de produção literária, esse excesso de saúde de gente que tenta se enfiar ali, entre os mortos, entre os que permanecem e com quem dialogamos”. O escritor mato-grossense Joca Reiners Terron, autor de, entre outros, Sonho interrompido por guilhotina (Casa da Palavra, 2006) e do blog Hotel Hell – destacado como erudito durante o debate pela pesquisadora, crítica e professora da Unirio Beatriz Resende, dentre os autores surgidos na década de 90 – reclama que há também um excesso de críticos. “Fui visitar meu pai em Santos. Na cozinha, puxei uma cadeira, abri uma cerveja… Aí vem um tio meu, se vira para minha mulher e diz: ‘Esse aí sempre desenhou muito bem. Mas como escritor…’,” comentou Joca, rindo. Se hoje todo mundo acha que pode escrever literatura, a mania de “dar uma de crítico” também é bastante popular. Para a escritora paulistana Andréa Del Fuego – autora de Nego tudo (Fina Flor, 2005), Minto enquanto posso (O Nome da Rosa, 2004), entre outros, e do blog que leva o seu nome –, presente no colóquio, “a crítica consegue ser contemporânea se o olhar se estende sobre uma obra concluída, muitas vezes, de um autor morto. É difícil ser contemporânea com um objeto de análise em andamento, isso complica a crítica. A crítica pode ser até mesmo uma peça literária; para isso, a escolha do crítico se dará por motivos de empatia intelectual, por algo que o instiga a verificação e até
sua poesia particular e interna. Nós faríamos o mesmo no lugar deles”. O excesso de produção literária, para o compositor e professor de Teoria Literária da USP José Miguel Wisnik, aparentemente não fede nem cheira: desfaz-se em fumaça. “Está na moda a obra que ‘se esfuma’, que se lê e esquece imediatamente depois de o livro ser fechado”, criticou. “Temos manifestações espalhadas nos blogs, nos muitos livros que não conseguimos ler, mas nada que possa ser fixado.” Provocação por provocação…“Tenho pesquisado muitas manifestações literárias que não foram consideradas como literatura em seu momento,” explicou Beatriz Resende. “A necessidade canônica, quando se vai trabalhar com o contemporâneo, de saída nos coloca diante dessa questão: O que é literatura?” “Em meio às manifestações que surgem hoje, a defesa do imaginário no ficcional é uma coisa que me agrada imensamente; e há ainda a literatura da realidade excessiva, há a literatura egótica – em que um sujeito de 25 anos escreve sua ‘biografia definitiva’; há a literatura realista da periferia… com todas as diferenças entre as manifestações, é preciso saber o que é literatura.” E quanto à crítica? “Sou pela militância da sedução, nos veículos de imprensa. Não vale a pena gastar um parco e disputado pedaço de papel num jornal para falar mal de um autor. Se um livro não me interessar, prefiro não escrever sobre ele.” E na internet também há manifestações de crítica fast-food: “Há a crítica imediata nos blogs, nos sites; mas há blogs provocativos que tornam esse imediatismo interessante”. Para Beatriz, o único e maior pecado que um escritor pode cometer hoje tem mais a ver com cifrões do que com letras propriamente ditas. “Só me tira do sério o caminho da busca do mercado, às vezes por autores realmente bons que caem nessa tentação.” A mediadora Regina Dalcastagné lançou um contraponto à questão, anunciando como uma pequena provocação à mesa sua pergunta Revista Literal 85
sobre quais seriam os critérios utilizados pela crítica para decidir o que é relevante e o que é descartável nesse cenário. “Provocação por provocação”, brincou Wisnik, introduzindo sua resposta, “devemos ter a capacidade de reconhecer textos cuja complexidade e densidade podem fazê-los canônicos, mas cânones devem sempre ser postos em discussão.”
“A gente pode estar perdendo o novo Guimarães Rosa ali, no meio daqueles 70 e tantos livros que recebemos por semana. Nós nos sentimos na obrigação de dar conta de todos os livros que chegam, mas não é possível. Hoje em dia se produz muito mais literatura”, disse Manya, que consegue ver diferenças entre os livros de papel e aqueles
“Devíamos reconhecer que trabalhamos em condições adversas. Quem trabalha com a cultura letrada no Brasil, trabalha em condições adversas,” lembrou Wisnik. “No Brasil, considerando que é um país iletrado, o fato de Clarice Lispector e Guimarães Rosa (para citar os dois ícones) terem sido reconhecidos, o fato de termos estabelecido algum cânone, como o que temos, é impressionante.” “O contemporâneo está próximo demais para que possamos olhá-lo sob a perspectiva canônica,” concluiu Wisnik.
publicados somente na internet. “Na internet, os personagens e as histórias são mais fragmentados (…).” Além disso, “o papel ainda tem um peso muito grande. Às vezes damos uma resenha no blog e o autor fica meio desapontado, como se não valesse. É como se o autor só se sentisse escritor quando é publicado em papel, a resenha só valesse quando é publicado em papel”. Assim como o aumento da produção literária, o filtro “O que é literatura” também foi repensado neste encontro. “Quando fiz minha tese sobre os poetas marginais (26 poetas hoje. Rio, Ed. Labor, 1976), havia um reforço muito grande da academia dizendo que meu objeto de pesquisa não era literatura”, contou Heloisa, que, com a tese, acabou se tornando “madrinha dos marginais”. “Sou obcecada pela margem, pelo que para os outros não presta”, afirmou. Crítica literária, porém, com algumas ressalvas (“Tenho um desconforto gigantesco com a posição de crítica, é uma assunto sobre o qual não costumo falar”), Heloisa apontou a questão que mais prende sua atenção na cena literária atual: “É a questão da autoria, que começa a se cindir, com a internet, com Creative Commons, com os blogs… e vejo nos escritos mais novos uma certa ‘flutuação’, nesse sentido”, disse, lembrando que o autor, a noção de
“Eu acho a internet ótima para a pornografia, mas não sei se é boa para a literatura”, afirmou Alcir Pécora
Eterno retorno. Ou seja: também na literatura, nada como um dia depois do outro. Mas o assunto retornou ao auditório do Itaú Cultural na sexta-feira, 16, na mesa que discutiu a “Crítica literária: entre a academia e a mídia”. A conversa entre a professora Heloisa Buarque de Hollanda (titular de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ), Luiz Roncari (professor de Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP) e a editora do caderno literário “Prosa e Verso”, do jornal O Globo, Manya Millen, não ficou restrita ao tema destacado pelo título do encontro, mas lembrou mais uma vez a desconfiança que paira sobre o novo. 86 Revista Literal
autoria, é uma construção moderna. “Quero muito saber como vai ser a crítica com comments, comentada, interativa. Quero ver como o crítico acadêmico, que detesta essa interatividade, vai se comportar diante da web 2.0, quando começarem a ser interpelados por leitores na internet.” A interação virtual sugerida foi bem recebida pela mesa. “Acredito na importância vital da crítica para a literatura e da literatura para a crítica. Aprendem mais uma com a outra do que com sua própria sombra”, completou Luiz Roncari.
“Sonhei com um escritor que queria me matar.” Foi com a narrativa de um sonho que José Castello abriu seu comentário no encontro “Crítico-escritor e Escritor-crítico”, em que dividiu a mesa com Cristóvão Tezza e Marco Lucchesi, e o mediador Flávio Carneiro. “Quando fiz o livro do Vinicius de Moraes, sonhei várias vezes que ele me perseguia e queria me atacar. Com um facão,” contou Castello, falando um pouco do seu lado de crítico literário. Para Tezza, “a nova geração ainda não se consolidou.” Foi Cristóvão quem, durante o encontro, mais falou sobre “a vida dupla, o viver dos dois lados do balcão, como autor e crítico”. Castello, que tem um romance publicado, Fantasma (Record, 2001), desdobrou os comentários à produção literária contemporânea: “A literatura brasileira hoje está muito mais rica do que a crítica reconhece. Com todas as ressalvas que se pode fazer às novas gerações, a variedade de narradores é maravilhosa. Minha posição em relação à literatura hoje é otimista”. Marco Lucchesi, por sua vez, aproveitou para explicar sua “Jihad universitária”: “A primeira coisa que detestei na universidade foi o casamento espúrio entre pesquisa e burocracia. Muitas vezes a burocracia ditando o caminho da pesquisa”. E protestou contra as engrenagens enferrujadas do pensamento: “Eu gosto de encontrar um rapaz de 20 anos que acha que sabe tudo, com aquela força. Mas não é bom encontrar um velho que pensa que já sabe tudo” •
Guimarães Rosa (1908-1967), por Loredano
Revista Literal 87
Origens do Capitão Nascimento O cientista social e antropólogo aborda as raízes do polêmico longa-metragem José Padilha. Por Luiz Eduardo Soares Publicado originalmente em outubro de 2007
Elite da Tropa (Objetiva, 2006) foi lançado exatamente um ano depois do Cabeça de Porco (Objetiva, 2005). Também foi projeto de três cabeças, ainda que a escrita, especificamente, tenha ficado a meu encargo. Trata-se de mergulho no universo dos policiais, o outro lado de nossa “guerra” fratricida. Os autores são o mesmo antropólogo; um policial negro, bacharel em Direito pela PUC, de origem social pobre; um ex-policial branco, pós-graduado em sociologia urbana, de origem social nas camadas médias – ambos na faixa dos 30 anos e casados, um deles com dois filhos. Aqui, a estratégia não foi o cortiço ocupado pela babel de registros, em distintas chaves discursivas, mas a composição da narrativa a partir de eixo ficcional: uma voz fictícia, expressiva de um ethos particular, relata, em primeira pessoa, episódios seqüenciais, que, aos poucos, revelam conexões entre si. Os episódios traduzem vivências típicas dos policiais. A segunda parte retoma fios da trama e personagens introduzidos na primeira parte, mas trabalha com a pluralidade a seco, na forma do texto dramático, sem narrador. As pontes explodiram. Restaurar a verdade da explosão, provocada pelos crimes do Estado, é tarefa indispensável se desejamos reconstruí-las. Verdade e reconciliação, o mote de Mandela, é a meta da obra. Raspar o esmalte das palavras foi um percurso difícil. Da sobriedade pouco adjetiva de Meu casaco de general (Companhia das Letras, 2000) para a multiplicidade de registros do
88 Revista Literal
Cabeça..., houve um salto arquitetônico, cujo ponto de inflexão foi a passagem do fluxo narrativo, típico do memorialismo do primeiro livro, para a edição do mosaico, para a ordenação das peças do quebra-cabeça, tarefa chave na composição do segundo livro. O salto para o terceiro livro não foi apenas arquitetônico; foi, sobretudo, a torção radical da voz. No Elite..., tive de falar outra língua. Reaprendi a escrever. A reinvenção do self-narrativo é o momento inaugural da decisão estética, é a matriz da opção literária, porque impõe a linguagem, o lugar do juízo, sua forma, seu critério, o ponto de corte para a percepção e os projetos descritivos, a inscrição dos termos contratuais para os jogos da interlocução com os leitores e os personagens (e os leitores-personagens). A decisão fundante, no Elite da Tropa, tomou emprestados os leitores ao mundo da vida para detê-los, em flagrante, prostrando-os, rendidos, cativos, na trama do texto. Essa interpelação (fictícia e real) seduz, instiga, ameaça, invade, agride, brutaliza, escarnece, ironiza. Estabelece uma relação. Lança uma ponte. O poder gravitacional da narrativa encontra nesse laço a sua manobra, por excelência. O recurso à interlocução (“Você, que está lendo…”), nos marcos de uma voz devassa, rascante, tangendo uma escrita escavada na pedra, está na inversão que provoca: evoca o exterior para aprisioná-lo, fazendo, da mentira ficcional – que são os leitores sempre evocados –, o correlato da experiência a que alude a narrativa – refiro-me à experiência da supres-
são da alteridade (típica da polícia brutal, que é também a experiência da política tirânica). Encerrar a narrativa em si mesma, encerrá-la em seu ponto de partida, bloquear seus passos, cerceá-la, vigiá-la para que não se mova, girar com o relato em mil direções, disparando a metralhadora giratória da imaginação, multiplicando fatos que ecoam, no fundo, a mesma história: esta é uma forma de apertar o grilhão, torcer o torniquete, aludindo a uma falsa liberdade, a liberdade dos acontecimentos, acontecimentos que apenas na aparência se distinguem. Assim se construiu a história do Elite da Tropa, história que não se diz, que não se deixa contar, história desse não dizer-se, dessa resistência a pronunciar seu próprio nome – seu nome é desumanização, é o escândalo do crime inominável sob a égide do Estado; é o escândalo do arbítrio e do escárnio oficial; da Justiça que se faz pelo avesso; é o escândalo do Estado que erige a barbárie como hábito noturno. Por isso, a ficção diz a “verdade”, sendo a verdade essa intangibilidade, essa inacessibilidade, esse veto, essa inexpugnabilidade do escândalo enquanto tal.
A “verdade” que Elite... ousa sussurrar, entre dentes, mordendo a orelha do leitor, é a assimilação do inaceitável, a naturalização do intolerável. O trabalho dessa naturalização no interior do sujeito é a brutalização, por cujo processo a supressão do outro inscreve suas marcas no self que a pratica –suprime-se, o self, fazendo da reflexividade um espelho desviado do foco: divertimento. É engraçado. Pode ser engraçada, a tragédia. A diversão resulta da reificação do outro, que termina promovendo, na dinâmica da auto-consciência, a transformação da simetria do espelho em assimetria. O círculo vira espiral, em que o self perde-se de si e olha sempre para onde já não está. A caçada do outro morde o rabo. É a si que o sujeito caça. Para aniquilar. Tortura-o, “trabalha-o”, para fazê-lo “cantar”, “dar”, dizer quem é e onde estão as suas armas. É o sujeito em fuga de si a buscar no outro a resposta especular impossível. Qualquer resposta do outro torturado será insuficiente, não saciará a fome de saber. A violência é esta ânsia de si-mesmo, refratária ao espelho que a desnudaria em seu solipsismo irreversível. Não sendo espelho, o outro é deriva, o outro lança a outro, sempre, a resposta, porque a pergunta erra o alvo, por definição. A voz policial encena e constrói a trama narrativa com esse jogo e essa prisão, em que se condena à dilaceração. O solipsismo desse falso diálogo com os leitores ausentes gira em torno do próprio eixo até precipitar energia suficiente para explodir. A explosão original lança ao espaço literário 62 personagens e elimina o centro regente, a voz que conduz: inicia-se, assim, a segunda parte. A narrativa cede lugar ao drama: escrita direta e desprovida de metalinguagem. A literatura do diálogo. Porque o self é impossível, insuscetível de portar a enunciação das sínteses, refratário à tessitura que une as pontas em conflito. O self-narrador é puro conflito. Adrenalina e guerra. Irreconciliável. A escrita do Elite... é acre, tosca, aparentemente desprovida de polimento. Esmalte raspado. Verbo rasgado. No entanto, foi a mais elaborada e a que exigiu maior investimento na ourivesaria, entre todas as que produzi• Revista Literal 89
Dia do Escritor
Eles escrevem porque começaram e não conseguem parar. Paixão desmedida, luta que nunca termina, sucessão interminável de perguntas, que se desdobram, se multiplicam e se ampliam. Por Cecilia Giannetti Publicado originalmente em julho de 2007
Perguntamos a escritores de diferentes gerações e regiões do país por que começaram a escrever e por que seguem escrevendo. Suas respostas resultaram em um livro aberto sobre a experiência de cada autor. No Dia do Escritor, 25 de julho, leia o que pensam sobre essa atividade tão trabalhosa quanto fascinante: Ana Maria Machado, Andréa Del Fuego, Bruna Beber, Chacal, Ferreira Gullar, Índigo, Joca Reiners Terron, José Castello, Marcelino Freire, Moacyr Scliar, Omar Salomão, Paulo Henriques Britto, Paulo Lins, Raimundo Carrero, Ronaldo Bressane, Sérgio Sant´Anna, Silviano Santiago e Zuenir Ventura.
*** “Escrever num país sem leitores tem um lado ótimo. Você não tem nenhum compromisso com mercados e inventa o que quiser. E comecei a escrever para poder viver mais a imaginação do que a realidade, pois alguém duvida que a primeira é melhor do que a segunda?” Sérgio Sant´Anna. O vôo da madrugada (Companhia das Letras, 2003) 90 Revista Literal
***
“Escrever foi minha segunda escolha. O cinema é uma arte cara e coletiva. Sou neurótico em relação a dinheiro & dívida. Continuo escrevendo porque escrevo o que quero, no ano, no mês, no dia e na hora que quero e me exprimo em total liberdade. A atividade literária não é o meu principal ganha-pão. O jogo gratuito me fascina. Pensei que a regra da literatura fosse o perde-ganha. Hoje, sei que é o tudo ou nada.” Silviano Santiago. Histórias mal contadas (Rocco, 2006)
*** “Talvez seja mais difícil ser escritor num país que não lê. No entanto é necessário que se publique mais para que o hábito da leitura seja desenvolvido em nosso país. Leio para me desenvolver espiritualmente. Comecei a escrever desde criança, não sei como, mas a necessidade de escrever é a mesma de sempre.” Paulo Lins. Cidade de Deus (Companhia das Letras, 1997) *** “Escrevo porque eu quero me vingar de alguma coisa. Sempre digo: de um amor que pas-
sou, de um amigo, da família, do governo. Escrevo porque algo me inquieta. Algo agoniza, sei lá. É a minha maneira de exorcizar uma dor esquisita. Uma lembrança. Há pouco tempo, perguntaram para o cineasra Cláudio Assis (diretor de o Baixio das bestas) por que ele faz filmes. Ao que ele respondeu: “Dói e eu faço”. É isso: dói e eu escrevo idem. [Comecei a escrever] quando li um poema de Manuel Bandeira, aos 9 anos de idade. Quis ser o Manuel Bandeira a partir dali. Doente igual a ele. Ensaiei, inclusive, umas tosses infantis. Achei bonito aquilo de ser um poeta menor. De viver a vida à sombra da morte. Bandeira foi a minha porta de escape para outros poetas, prosadores, enfim. Sem contar que, quando descobri que Bandeira era pernambucano, achei que era possível eu ser escritor. E aí fui querendo isso para mim. Essa maldição sem fim. [Ser escritor num país que não lê] é lembrar sempre de que eu sou um escritor em um país que não lê. De que eu sou um escritor contemporâneo, novo, no solavanco. Lembrar disso para não “estrelar”, entende? Para não se sentir o dono da cocada branca. Por isso, eu preciso sempre circular. Levar o meu texto em tudo que é lugar. Feito cantador, embolador. Ser escritor em meu país é isso: sair do casulo. Do pedestal. É ganhar o leitor a dedo e a olho e à unha, etc. e tal.” Marcelino Freire. Contos negreiros (Record, 2005)
*** “Creio que os escritores muitas vezes não sabem muito bem por que escrevem. A motivação explícita pode ser desde uma obsessão, um imperativo existencial, como no caso de Kafka, para quem escrever era mais importante do que viver, até a simples necessidade de pagar as dívidas, como se deu em vários momentos das vidas de Balzac e Dostoievski. Mas mesmo assim não se tem propriamente uma explicação: por que Kafka precisava escrever mais do que viver? Por que Balzac e Dostoievski não tentavam ganhar dinheiro de outra maneira? A resposta, se há uma resposta, nos leva à segunda pergunta: os escritores escrevem porque começaram a escrever e não conseguem parar. Como comecei a escrever? A meu ver, os es-
critores, em sua maioria, começam a escrever mais ou menos quando começam a ler, quando constatam que uma coisa de certo modo puxa a outra, explica e justifica a outra. O meu caso, ao menos, foi esse: aprendi a ler por volta dos cinco anos, e quando ainda estava aprendendo a decifrar as palavras que via nas revistas, livros, cartazes e anúncios da televisão, já tentava traçá-las no papel, em letras de imprensa. Nunca consegui escrever direito em cursivo, e quando, por volta dos dez anos, comecei a catar milho na máquina de escrever do meu pai, senti uma felicidade enorme de ver que minhas palavras saíam com cara de impressas, como se fossem parte das minhas leituras. Assim, escrever e ler são para mim como os dois lados de uma folha de papel. O fato de que poucos lêem no Brasil nunca me preocupou, pelo menos não no momento da escrita. Escrever é sempre escrever para si próprio e para um punhado de pessoas cuja opinião é importante para o escritor. O que vier a mais é lucro.” Paulo Henriques Britto. Tarde – Poemas (Companhia das Letras, 2007) *** “Escrevo porque: 1. É mais barato que fazer análise. 2. [Comecei] com os cadernos de caligrafia da professora Kiki e sempre lendo muita revistinha em quadrinho. Antes de começar a escrever, eu ditava as histórias para minha mãe, que as copiava nos meus cadernos de desenho. 3. Justamente por isso [ser escritor num país que não lê] meus textos são sempre acompanhados por desenhos e/ou infográficos.” Omar Salomão. À deriva (Dantes, 2005)
*** “Acho que a questão deveria ser: por que eu não parei de escrever, não? Toda criança é criativa, de acordo com o velho Rollo May. Então escrever, creio, foi uma consequência de minha imaginação infantil. O Rollo (que não é o namorado da Tina) diz que os adultos que não sabem desenhar desenham como crianças de 8 anos, precisamente a época em que esses adultos deixaram de desenhar. Os que continuam, Revista Literal 91
viram adultos que sabem desenhar. Às vezes até ganham dinheiro com isso. Acho que comigo foi assim: comecei a desenhar e a escrever ao mesmo tempo, pois queria fazer histórias em quadrinhos. E não parei. Alguns dirão que eu continuo a desenhar e escrever como se tivesse 8 anos de idade, e não 39. Quem dera. Não faço idéia de por que continuo escrevendo. Sempre fiz isso, acho que não tenho escolha.” Joca Reiners Terron. Sonho interrompido por guilhotina (Casa da Palavra, 2006)
*** “Não sei por que comecei a escrever, por que continuo nem o que me move a continuar escrevendo. Mas também não quero descobrir. Comecei a escrever logo que aprendi a ler. Manifestou-se em silêncio, foi tomando espaço, e não me preocupei em medir suas proporções. Não sei de onde vem, porque está, e qual é seu destino. Eu vejo a escrita como algo em eterno movimento. Acho que as coisas importantes são assim, não têm explicação. Apenas existem e ó, que alegria! E o doce se concentra em não conseguirmos defini-las, e logo, não conseguirmos aprisioná-las. É assim com escrever e é assim com o amor.” Bruna Beber. A fila sem fim dos demônios descontentes (7Letras, 2006)
*** “Essas pretinhas me fascinam, me dominam, elas são as tais. Aonde elas vão, eu vou atrás Não consigo viver sem elas. Ontem, hoje, amanhã e sempre” Chacal. Belvedere (Cosac Naify/7Letras, 2007)
*** “Acho que me tornei escritor porque escrever me dava prazer e era a coisa que eu fazia menos pior.” Ferreira Gullar. Resmungos (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006) 92 Revista Literal
***
“Aos 12 anos ganhei um diário com capa cor de rosa e cadeado. Nada de mais. Todas as meninas ganhavam diários assim naquele tempo. O comum era escrever durante alguns meses, até perder a graça. Pra mim nunca perdeu a graça. Assim que acabaram as páginas, continuei num caderno comum registrando compulsivamente tudo que acontecia na minha vida. Com o tempo passei a acreditar que se eu parasse de escrever, seria como deixar de viver. Tive a sensação que os acontecimentos só seriam legitimados se entrassem para meu diário. Soube então que eu nunca mais poderia parar com aquilo. De fato, escrevo diários até hoje. Virou um vício. Eu acordo, tomo café, sento e escrevo. É automático. Não importa o que eu escrevo. É pelo ato em si. Não tem nada a ver com o fato de essa ter virado minha profissão. Se amanhã todo o mercado editorial começar a abominar o que eu faço, continuaria escrevendo do mesmo jeito. Um pouco mais deprimida, evidentemente. No fundo eu escrevo para mim, pelo simples prazer de escrever. A resposta honesta é: porque é o que mais gosto de fazer na vida. O que me move a escrever? Vaidade.” Índigo. A maldição da moleira (Girafinha, 2007) *** “Escrever é uma paixão desmedida. Uma loucura. Verdadeira. Nunca me pergunto o que vou comer, nem beber, nem dormir. Não é que eu seja imprudente ou irresponsável. Sempre quero saber se vou escrever neste ou no outro dia. Se estou resolvendo os meus conflitos literários; minha vida, enfim. O meu prazer. Por isso enfrento com toda a força possível os problemas de ser um escritor num País como o Brasil. Muitas vezes percebo que há injustiças entre o escritor e a sociedade, até mesmo porque está na moda rejeitar a literatura, como algo execrável. Afinal, escritor dá lucro? E a sociedade moderna tem interesse no vil metal. Mas nós estamos na trincheira. Podemos escrever contra essa economia de resultados, podemos gritar, e podemos nos vingar com a mais poderosa de todas as vin-
ganças: escrevendo e publicando. Ah, eles não perdoam um escritor que lança romances e novelas, poemas e contos, que investe no eterno. E o país que não lê? Sinceramente, basta-me a alegria da criação. Se a sociedade não vai ler, aí é outra história. É claro que isso machuca muito, maltrata. Sem dúvida. Até porque sendo uma atividade ainda um tanto romântica precisa de dinheiro para sobreviver. Ler significa, vender; e vender, significa sobrevivência. No entanto, parece-me que a questão é esta: sou realmente um escritor? E voltando ao velho Rilke: morreria se não pudesse escrever? Uma luta que nunca termina. Comecei a escrever ainda menino, na minha cidade Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Ali aprendi que escrever é o primeiro alimento. Trancava-me num quarto da casa de meus pais – Raimundo e Maria – e, munido de uma caneta e caderno, passava horas escrevendo. Não me importavam nem o céu nem a terra; nem a chuva nem o trovão. A mão do menino traçava toscas palavras e era a felicidade. E é a felicidade. Ainda hoje sinto o mesmo prazer, o mesmo encanto, o frio na barriga. Descubro que vou indo bem, descubro que fracassei, e minha pele começa a ferver. Sinto que estarei assim até a morte. E será uma infelicidade se não houver literatura na eternidade. Vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Escrevendo, as palavras são minhas. Fazem parte da minha solidão e da minha alegria”. Raimundo Carrero. O amor não tem bons sentimentos (Iluminuras, 2007)
*** “Tenho um caderno verde, brochura, onde escrevi o livro Engano seu. Tenho ficado cada vez mais artesanal, mais urdideira, menos fácil. Não tenho fidelidade ao gênero, nele anoto também pensamentos e flashes estéticos, é meu blog íntimo. Levei o caderno, hospedagem segura, para a Flip. Nele digeri frases alheias, misturei com os palpites de minha cigana velha e concluí: O apego ao personagem se dá pelo fato de que ele já não é mais seu. A escrita é a despedida de uma função fundamental, de
uma face que, por emergir, deixa de ser íntima, deixa de estar nos bastidores do pensamento. Vai brilhar e, por isso, deixar de influenciar no momento em que se expõe à luz. Quando transporto esse engenho para a vida, tudo fica um bocado mais duro, cada amor é uma despedida, já que sua manifestação é a exposição do que não mais se deita profundamente. Escrever é (des)pedir-se.” Andréa del Fuego. Engano seu (O Nome da Rosa, 2007) *** “Gosto muito de uma resposta que o Fernando Sabino deu a essa pergunta: “Escrevo para saber por que escrevo”. Não chega a ser uma resposta, na verdade só leva a novas perguntas, e é isso que me agrada nela. Aprecio muito, também, a definição que Clarice Lispector se deu um dia: ‘Eu sou uma pergunta’. A literatura é isso: uma sucessão interminável de perguntas, que se desdobram, se multiplicam e se ampliam. Em vez de fechar e responder, os escritores estão sempre a duvidar e a abrir. Ainda menino, nos bancos do Colégio Santo Inácio, comecei a escrever, aos 11 ou 12 anos, imitando os poetas que descobria: Castro Alves, Vinicius de Moraes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Poemas ingênuos, de menino, que foram depois para o lixo. O desejo de escrever prosa surgiu quando, aos 11 anos, li o Robinson Crusoé, de Defoe. Livro que me levou a descobrir o que é a literatura, e que nunca mais parei de reler. Durante toda a adolescência, escrevi muito, inclusive um romance, mas joguei tudo fora. [Os baixos índices de leitura] correspondem, em parte, à miséria brutal que divide o país em dois. Mas, em outra parte, correspondem a uma sociedade, a brasileira, que cada vez mais se define pela superficialidade, pela pressa e pela futilidade. Se a parte rica do país tivesse o hábito de ler, os escritores estariam ricos. Então, não se pode atribuir os baixos índices de leitura só à miséria ou ao analfabetismo. Ser escritor, em qualquer país do mundo, é sempre muito solitário. Ainda mais hoje em Revista Literal 93
dia, quando o mundo se padroniza, se acelera e se intoxica de imagens. Num mundo assim, a leitura – que é um exercício de introspecção, uma experiência lenta e secreta que exige silêncio e recolhimento – se torna cada vez mais dissonante. Mas não sou um pessimista. Creio que, nesse mundo, a literatura se tornou um instrumento de resistência. Não falo de resistência ideológica, ou partidária. Mas, num mundo de idéias prontas e de dogmas fechados, é na literatura, como na arte em geral, que se guardam nossas melhores chances de pluralismo e de liberdade interior.” José Castello. Fantasma (Record, 2001)
*** “Não sei dizer exatamente por que escrevo. Posso mencionar algumas das coisas que me levam a escrever, e a primeira delas é o prazer que dá jogar com as palavras, dispô-las na tela (ou no papel) de maneira que o conjunto resulte num texto, isto é, em um todo coerente capaz de veicular emoções e, eventualmente, idéias. Se isto é uma vocação, se resulta de uma determinada conjuntura psicológica e/ou cultural não sei dizer. Mas sei dizer por que NÃO escrevo: não escrevo pela antecipação de recompensas, materiais ou emocionais. O que me levou a escrever? Em primeiro lugar as histórias que meu pai, imigrante, contava, com muito prazer e muita graça, deliciando familiares e vizinhos. Depois, a leitura e aí o estímulo veio de minha mãe que, como meu pai, era de família pobre mas que, diferente dele, conseguiu estudar, tornou-se professora – e era uma grande leitora. Foi ela quem me introduziu aos livros, e foi com a leitura que aprendi a escrever. Finalmente devo dizer que me sinto bem como escritor brasileiro. Claro, vivemos num país em que o livro é claro, em que as pessoas ainda lêem pouco; mas é um país que incendeia a imaginação e no qual o potencial número de leitores é imenso. Lembrando, porém, 94 Revista Literal
que imensas audiências não são necessárias. Flaubert dizia que para ele cem leitores eram suficientes – e isto que ele estava falando da França, com toda aquela tradição cultural. O importante é ser autêntico e fazer o que a gente gosta.” Moacyr Scliar. O texto ou: a vida (Bertrand, 2007) *** “Cecilia querida: Não gosto de efemérides – nem das minhas, como aniversário, por exemplo, nem das dos outros – mas já que você, jovem colega e minha editora no Portal, quer comemorar o dia do escritor propondo umas poucas perguntas, aí vão as respostas: Gosto mesmo é de ler. Comecei a escrever contra a vontade e por acaso, continuo por precisão e o que me move é a encomenda e o prazo (plagiando Tom Jobim). Se dependesse apenas de vontade, eu preferiria ser, digamos, deixa eu pensar, Ronaldinho Gaúcho – com menos dentes e a mesma grana.” Zuenir Ventura. Minhas histórias dos outros (Planeta, 2005)
*** “Sabe que não sei por que escrevo? Mas tento dar esse depoimento. Não consigo lembrar de um tempo em que eu não soubesse que minha vida estava absolutamente ligada à palavra. Aprendi a ler muito cedo e “sozinha”, imersa num ambiente leitor e rodeada de livros. Antes de saber ler, já distinguia pelo logotipo e pelo aspecto os diferentes jornais que meu pai, jornalista e chefe de redação, recebia cedo em casa todos os dias. E eram muitos. Fui uma criança tagarela e conversadeira, e os adultos me ouviam. Também adorava ouvir conversa de gente grande. Ler e escrever eram só outros aspectos de ouvir e falar. Fui uma leitora voraz, cercada de palavras. Na adolescência, saía do Rio para passar férias no Espírito Santo e tinha meus namoradinhos de verão. Tro-
cávamos cartas o ano todo. E me correspondia também com as primas, os amigos e com meu avô. Fazia diário. No colégio, fazia parte da equipe do jornalzinho. E lia sempre, lia muito. Estudar letras foi um encontro comigo mesma. Já tinha tentado geografia mas, ao estudar língua e literatura vi que era isso mesmo que eu queria. Ia à faculdade com prazer. Dava aulas com alegria. Adorei me oferecer ao Correio da Manhã para trabalhar de jornalista em 1962 – e ser aceita. Mais que isso, ser elogiada pelo que fazia, numa redação cheia de excelentes escritores, de Cony a Carpeaux. Mas achava que era pintora e era isso o que eu queria. Nunca tinha pensado em escrever ficção. Só experimentei em 1968, por encomenda da Editora Abril, que ia lançar uma revista infantil e buscava autores inéditos. Deu certo. Os editores gostaram e os leitores também – tanto que compravam maciçamente os números com minhas histórias e me transformaram numa das autoras mais requisitadas da revista. Mas quem mais gostou fui eu. Descobri que era uma delícia a liberdade que a escrita de ficção dava, sem compromissos com o factual, junto ao desafio de tentar fazer algo de qualidade literária numa linguagem bem brasileira, em registro oralizante e familiar. Fui escrevendo textos mais longos, escapei aos limites de faixas etárias, e aos poucos, ainda sem me dar conta, fui virando escritora mesmo. Talvez o momento decisivo tenha sido quando decidi largar a pintura como busca de linguagem e me expressar de outra forma, com um foco na escrita. Foi em 1970, eu estava exilada em Paris, ainda me considerava pintora (o que fazia, a sério, havia uns 12 anos, expondo, participando de salões e tudo o mais). Porém fui vendo os caminhos mais contemporâneos da arte conceitual, constatando que pediam outra atitude (que eu não tinha), que não se tratava mais de resolver questões pictóricas – como cor, textura, transparências, luz, composição – mas de apresentar visualmente
determinados conceitos e depois explicá-los com palavras, nos títulos, nas entrevistas, nas apresentações dos trabalhos. Algumas daquelas coisas me pareciam de uma pretensão extraordinária, eu me sentia constrangida, não me reconhecia naquela turma. E achei que, se era para recorrer às palavras, o melhor seria me concentrar nelas. Na arte conceitual, eu perdia a alegria de pintar. Na escrita a reencontrei. Foi isso. Corro atrás desse prazer até hoje. Só a busca já vale a pena.” Ana Maria Machado. Ponto a ponto (Companhia das Letrinhas, 2006)
*** “Sendo escritor num país que não lê, me sinto meio alien. Porque ao ouvir um ‘seu escritor’ vindo de alguém que não gosta de ler ou não tem o menor interesse nisso, ouço ao mesmo tempo um ‘você se acha melhor que os outros’ ou, pior, ‘eu acho você melhor que os outros’ – talvez motivado pela velha aura do dotô de anel no dedo nascida nos embates entre a casa grande e a senzala e na lusa síndrome de fidalguia que nos deu origem. E não acho que escrever seja assim tão importante, tão melhor, tão extraordinário, ao mesmo tempo em que também não acho que seja banal. No dia em que ‘ser escritor’ for comum no país, talvez afinal nos livremos do complexo de vira-latas. Escrevo pra não passar batido o que penso, porque só penso mesmo enquanto escrevo. Comecei a escrever com uns 10 anos, toscas histórias de aventuras, HQs policiais e de terror. Depois vieram as cartas de amor (no fundo a gente só escreve pra comer alguém, alguém já disse), os péssimos poemas autocomplacentes da adolescência e as letras de música para as bandas em que tocava. Mas o primeiro conto mesmo veio aos 17, uma variante do poema “O corvo”, de Poe, que virou a narrativa que abre meu primeiro livro, Aos meus olhos de cão, publicado em 1999.” Ronaldo Bressane. Céu de Lúcifer (Azougue, 2003) Revista Literal 95
Fragmentos humanos Com um texto atraente e incômodo, Rodrigo de Souza Leão afirma sua condição: poeta. Sua prosa está contaminada de poesia. Por Ramon Mello Publicado originalmente em novembro de 2008
No livro Todos os cachorros são azuis (7Letras, 2008), o autor narra, através de uma experiência autobiográfica, a trajetória de um homem internado no hospício. E destaca três momentos da vida do personagem – infância, adolescência e fase adulta – para costurar uma narrativa marcada pela fragmentação do ser humano, característica que dialoga com a produção de alguns autores contemporâneos. Não leia o livro à espera de linearidade, pois é justamente a ausência dela que prende o leitor. A escrita de Rodrigo torna-se mais valorosa quando lembramos que trata-se de uma autor esquizofrênico – como ele gosta de deixar claro. O escritor tem a generosidade de mergulhar no seu rico inconsciente e nos apresentar personagens que não conseguimos enxergar em nosso cotidiano. Personagens delirantes apresentam momentos de lucidez. Rodrigo durante a entrevista concedida em sua casa, na Lagoa, apresentou o avesso de sua criação: lúcido com emocionantes instantes de delírio. Ler esta entrevista e os livros do autor é abrir uma janela a inúmeros estados de consciência, mergulhar no desconhecido, enxergar através de uma lente azul – como propõe o narrador. Desejo que Rodrigo Souza Leão tenha sempre facilidade para publicar seus escritos; os leitores agradecem. 96 Revista Literal
Por que o título do seu livro é Todos os cachorros são azuis? Rodrigo Souza Leão. Na minha primeira infância eu tive um cachorro de pelúcia azul. Depois esse cachorro sumiu e nunca mais eu vi. É forte lembrança desse tempo. Como o livro fala de três fases da minha vida, resolvi fazer o link com minha infância. Mas nenhum cachorro é azul, é bom deixar claro. Só os cachorros de pelúcia são azuis. Você tem alguma cor predileta? Eu gosto de azul e preto.
Você escreve prosa e poesia. Como surgiu seu interesse pela Literatura? É uma história longa. Você tem tempo?
Sim, pode falar. Eu comecei escrevendo poesia. A Suzana Vargas foi minha professora na Estação das Letras. No meu primeiro dia de aula, ela pediu que os alunos escrevessem um texto para ser comentado. Mas meu texto não foi escolhido para ser lido. Fiquei muito triste. O texto era assim: a bomba é a solução / pra essa situação / pra crise geral / pro imposto territorial Fala dos problemas políticos do país. Depois virou um hino punk através do grupo Eutaná-
Tomás Rangel
sia, onde meu irmão tocava bateria. Meu irmão me roubou essa parte da letra e colocou na música dele. Eu nunca quis ser escritor, meu plano era ser vocalista. Na década de 80, tive uma banda chamada Pátria Armada. Fizemos show no Circo Voador, na Metrópolis, no Made in Brazil – casas de shows da época. Minha meta de vida era ser músico. Você toca algum instrumento? Eu toco um pouco de violão, mas só para compor. Minha voz fica boa impostada, perdi muito poder vocal por causa dos remédios que eu tomo.
Porque você toma os remédios? Para controlar o meu distúrbio delirante, minha esquizofrenia. Aos 23 anos tive um sério problema, identificaram a esquizofrenia. Hoje em dia usam muitos eufemismos para essa doença. A Dra. Nise da Silveira batizou a esquizofrenia de “inúmeros estados do ser”... Nise da Silveira é maravilhosa, uma mãe. Mas voltando aos 23 anos: Tive um problema sério
quando trabalhava na assessoria de imprensa da seguradora da Caixa Econômica. Foi uma crise de estresse muito elevado. Eu já era esquizofrênico, mas nunca havia manifestado a doença. Aos 15 anos, eu achei que tinha engolido um grilo – esse episódio está no meu livro. Aos 23 anos, no dia 03 de setembro de 1989, eu fui internado pela primeira vez, se não me falha a memória. Fui internado numa clínica, que não vou dizer o nome para não ser processado. Me colocaram camisa de força, me jogaram num cubículo e me deram um “sossega leão”. Mas o hospício em si não é a pior coisa do mundo. Porque, geralmente, não se sabe lidar com a loucura. Para a família é muito complicado, ela se ver impelida a internar. O louco quebra a casa toda, faz um monte de merda, como aconteceu comigo na segunda internação. E pra onde você vai mandar esse cara? Eu sou a favor da luta antimanicomial. Acho que manicômio não resolve o problema de ninguém, só piora. Aqui está meu irmão, que é bipolar de humor, para comprovar. Na minha casa há histórico familiar de problemas mentais. Ele teve Revista Literal 97
duas internações, na segunda vez ele ficou totalmente fora de si.
fase “abobalhado”, durante a crise psicótica, foi esse eletrochoque.
Se pudesse caracterizar o estado mental em que se encontra, o que diria? Eu falaria que eu sou esquizofrênico. Isso quer dizer que sou uma pessoa que necessita de certos cuidados: preciso tomar remédios específicos, viver uma vida diferente das outras pessoas e conseguir viver dentro das minhas “nóias”. Tenho que saber que a minha paranóia é paranóia e aprender a conviver com ela. A palavra-chave é convivência. É a convivência com a diferença. O meu ser é diferente dos outros. O esquizofrênico tem que
A arte tem um papel importante na sua vida, certo? Justamente. Eu comecei a pintar há pouco. Mas escrever é uma coisa que vem. Eu só comecei a falar após a minha segunda internação. Fui internado duas vezes em 1989 e 2001, acho. Sou péssimo com datas e números, não sei nem meu telefone decorado. Essa segunda internação foi difícil, traumática, mas foi muito boa pra mim. Eu conheci lá dentro um cara chamado Gilberto Sabá, que foi guitarrista do Serguei, e a gente tocava o terror. Ele que fez aquela música: “Toca
ter uma sensibilidade para entender que é diferente. E sobre os eufemismos, isso é besteira. Falam “clínica” ao invés de “hospício”.
um, toca dois, toca três. Toca, toca, toca rock and roll...” A gente arrumava um violão e tocava para maluco dançar. [risos] Eu e ele éramos as pessoas mais lúcidas. Essa clínica onde fiquei era muito bonita, cheia de flores e árvores. Costumo dizer que hospícios são lugares tão bonitos que lembram cemitério. Eu ficava muito tempo fora do quarto vendo a paisagem, vendo a copa das árvores e escrevendo algumas coisas.
Tenho que saber que a minha paranóia é paranóia e aprender a conviver com ela. A palavra-chave é convivência. É a convivência com a diferença
Não é difícil falar e escrever sobre doença? Hoje em dia é tranqüilo. Mas teve um tempo em que eu nem tocava no assunto. Até começar a minha relação com a internet eu não falava da doença. Escrevo mais poesia do que prosa. O meu primeiro livro chama-se Há flores na pele, só há um poema que fala de loucura. Eu falo da doença porque nunca gostei de psicólogos. Psicologia não resolve nada. Você fica batendo papo, conversando e nada. Fiz análise dos 12 aos 18 anos e não resolveu nada. Eu já tomei eletrochoque, mas com sedação. E esse eletrochoque é muito bom porque melhora muito o doente. Sério! Não é aquele eletrochoque tenebroso que era aplicado no tempo da Dra. Nise. Aquilo era um absurdo. Quem tirou o meu irmão da 98 Revista Literal
Sua prosa me lembra a poesia da Stella do Patrocínio. Conhece? Sim. Uma louca, lançaram um livro pela editora Azougue. Isso acontece porque a loucura é igual para todos. O bipolar de humor tem momentos de euforia e depressão, com momentos tristes e maravilhosos. Se o bipolar tomar remedinhos, como Lithium e Haldol, ele consegue se curar em longo prazo. A cura não é imediata porque precisa da conscientização da doença. A pessoa que tem distúrbio delirante acha que está sen-
do perseguida por agentes e policiais. Você acha mesmo que está sendo perseguido! Eu nunca tive visões. Ou melhor, tive visões quando fiquei uns cinco meses sem comer em casa porque achava que estava sendo envenenado pela minha família. Eu só comprava comida fora, fiquei muito tempo sem dormir.
em dia as pessoas só querem ir para festas e barzinhos. Eu não posso beber porque tomo remédio tarja-preta, tomo Haldol.
Você tem uma lucidez muito forte em relação a isso. Rodrigo. Não sei se é lucidez ou excesso de sofrimento. Eu sofri muito com minha doença, só eu sei o quanto eu sofri. Meu irmão também sabe.
Você é formado em jornalismo. Rodrigo. Sim. Me formei em jornalismo pela Faculdade da Cidade [atual UniverCidade]. Eu não consegui me formar por uma faculdade federal, mas tive bons professores: Fernando Muniz, Lúcia Padilha, Ítalo Moriconi... Tive uma formação muito interessante. Meu lance nunca foi jornalismo, eu queria ser locutor de rádio. Ouvi muito a Rádio Cidade e a Rádio Fluminense com Maurício Valladares. Mas o que restou na minha vida foi escrever. O que sobrou? Escrever. Eu já fazia letra de música, depois passei a escrever poemas. Acredito que algumas letras de música são poemas.
[Bruno, irmão de Rodrigo, se aproxima e começa a participar da entrevista]
Bruno. Sou assessor dele.
Rodrigo. Ele é meu assessor para assuntos estratégicos. [pausa] O sofrimento fez com que eu tivesse um insight. Mas minha vida tem muitas limitações, por exemplo, não saio de casa, sou recluso. Tenho medo de ser perseguido por agentes. É uma coisa absurda. Você está vendo um cara lúcido dizer que tem medo de ser perseguido por agentes. Mas essa é a minha doença. O que eu posso fazer? Bruno. Quando arranja uma namorada ele sai. Pra ir ao motel...
Rodrigo. Só saio um pouco quando arranjo uma namorada.
Você namora muito? Rodrigo. Namorei muito até os 23 anos. Eu era muito bonito, mas não sou mais por causa dos remédios. E não vejo no relacionamento a solução para os meus problemas. Se eu quiser ficar com uma garota, ela vai ter de se adequar muito a mim. Porque o problemático da relação sou eu. É difícil conciliar uma relação com alguém que não pode sair. Gosto de ficar na minha casa vendo filme e jogos de futebol. Sou “flamenguista doente”. Hoje
Bruno. Mas faz sexo...
Rodrigo. Mas isso não tem contra-indicação. Eu já tomei muitos remédios. Mas me dei bem com esse remédio, embora dê tremor, mão fria e salivação.
Há letristas que são poetas. Rodrigo. Sim. Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil e Chico Buarque são maravilhosos.
Você sempre gostou de ler? Rodrigo. Não. A leitura foi um hábito que adquiri após minha primeira internação. Eu fiquei muito tempo em casa e devorei Proust e James Joyce. Li muito o Rubem Fonseca, gosto muito dele.
Você tem um livro de poesia chamado Carbono Pautado – memórias de uma auxiliar de escritório. Rodrigo. Sim. Mas esse livro só foi importante para que eu pudesse ver como foi a minha vida. Sua escrita é muito fragmentada, uma característica muito presente no texto dos autores contemporâneos...
Revista Literal 99
Rodrigo. Nós vivemos em tempos esquizofrênicos. Muita gente tem depressão ou síndrome do pânico. É uma sociedade que está doente porque dá valor ao que não se deve: o dinheiro. O ser humano viveria muito mais se parasse com essa babaquice de querer dominar o outro. No seu livro, Rimbaud e Baudelaire são influências? Rodrigo. Mais Rimbaud do que o Baudelaire. Li a obra completa do Rimbaud, que é bem curta. Gosto muito da “Canção da Torre Mais Alta”: Juventude preza / A tudo oprimida / Por delicadeza /Perdi minha vida.
Acho essa poesia sensacional! O Rimbaud é muito presente na minha vida. Eu tive muitos livros. Mas teve uma época em que eu achei que ia morrer, então fiz uma grande liquidação de livros. Peguei todos os meus livros, separei, dei os que eu queria dar e vendi todo o resto. Dei um disco incrível do Roberto Carlos, de 1969, que tinha “As curvas da Estrada de Santos”, para um cara que estava num sebo. Bruno. Meus discos do Iron Maiden foram juntos...
Rodrigo. É, os discos do meu irmão, que gosta de heavy metal. Eu só fiz essa grande liquidação porque eu achava que fosse morrer. Mas eu sobrevivi. A minha condição de vida é a seguinte: vivo o presente. Como estou vivo, faço um melhor dia pra mim. Eu não faço projeto a longo prazo. No edital da Petrobras eu deixei claro que o meu livro estava quase todo pronto e eles aceitaram assim mesmo. Mas o meu livro foi rejeitado pela Casa do Psicólogo. Eu pensei: Nem os psicólogos estão do meu lado? Logo na Casa do Psicólogo? Num lugar em que eu deveria ser tratado a pão de ló. Mas você conseguiu aprovação na Petrobras. Rodrigo. Esse projeto foi muito importante. Eu não tinha dinheiro para bancar meu livro. Apesar de viver nesse apartamento na Lagoa e parecer rico, não tenho muita grana. O dinheiro vai para serviços, remédios e outras despe100 Revista Literal
sas. Fui aposentado por invalidez aos 23 anos, não recebo muito. Eu consegui publicar graças à Petrobras e à 7Letras. Mas no início a Petrobras não acreditou muito, mandaram duas psicólogas para me avaliarem. Elas diziam: “Ele tem problemas cognitivos, problemas X, problemas Y”. Foi ótimo porque depois dessa avaliação “não preciso” ter mais problemas.
Você é otimista em relação a sua carreira de escritor? Rodrigo. Não. Mas acho que fiz um livro bom, intenso e mágico. Estou escrevendo outro livro: Tripolar, um livro de mais confronto com a linguagem. São três novelas que não se comunicam. Tenho uma postura positiva, mas não sou ufanista em relação a vida. Não acho que vou viver de literatura. Mas acredito no que eu faço. Vou ganhar prêmio? Isso é imponderável. Bruno. Vai ganhar o Jabuti. Rodrigo. Não vou ganhar.
O que é mais importante na sua vida? Rodrigo. O mais importante, no momento, é eu não saber o que é a coisa mais importante na minha vida. É saber colocar importâncias variadas. É importante que eu continue estável e consiga viver o máximo de tempo possível.
Você quer viver muito? Rodrigo. Não. Eu espero viver pouco. Se eu conseguir viver até 50 anos ficarei contente. Porque viver muito é para quem não tem problemas. Quando a pessoa tem muito problema é até melhor morrer cedo porque se livra um pouco dos traumas e angústias. Sou uma pessoa muito traumatizada. Mas feliz! Eu sou feliz. Posso dizer que sou muito feliz, mais feliz que a grande maioria das pessoas. Eu sou feliz. Eu não estou realizado porque ainda estou no meu primeiro livro. Estou na batalha para publicar um livro há muito tempo, desde os 27 anos.
Você acredita em Deus? Rodrigo. Por muito tempo eu li Nietzsche: Assim falou Zaratustra. Li todos os livros de Nietzsche quando eu tinha 20 e poucos anos, eu
Tomรกs Rangel
Revista Literal 101
adorava filosofia. Então a minha relação com a religião é mais calma. Eu rezo três orações antes de dormir, minha avó que ensinou: Oração a São Miguel de Arcanjo, Pai Nosso e Oração a Nossa Senhora da Cabeça. “Salve Imaculada, Rainha da Glória, Virgem Santíssima da Cabeça, em cujo admirável título fundam-se nossas esperanças, por sedes...” Agora está me faltando, não estou conseguindo lembrar. Sem problemas. Bruno. E ele vê a Igreja Universal do Reino de Deus, todos os dias comigo no quarto. Rodrigo. Só vejo porque ele vê. Isso não tem nada a ver. Não vejo Igreja Universal.
O que é a morte? Rodrigo. Eu torço para que exista algo além. Gostaria de ver o que as pessoas acham de mim
são menos capacitados a isso. E também têm os agressivos. Acho que os hospícios não deveriam misturar os loucos. Assim as clínicas se tornam um depósito de gente. Os oligofrênicos deveriam estar separados dos outros loucos. Eu não vou ser mais internado, eu acho. Vou ser internado só no cemitério do Caju. [risos]
O que é a vida? Rodrigo. A vida é excepcional. É o lugar onde tentamos construir sonhos. Vida é algo que foi dado e só você pode tirar, se você se suicidar. Ou Deus, que também pode tirar. Mas nem sei se Deus existe. Eu sou meio revoltado com Deus. Por que eu fui nascer esquizofrênico? Por que eu não nasci mais alto como o fotógrafo [Tomás Rangel]. Eu nasci com 1,70. Eu queria 1,85. [risos] Ramon também faz parte da família dos “gnomídios”. Você deve se achar um anão. [risos]
Não tem como definir loucura. Loucura é uma coisa perigosa de ser definida, por isso as pessoas falam tão pouco. Definir loucura é não saber como se está no mundo.
quando eu estivesse morto. Sabe? A reação das pessoas. Para saber se meu melhor amigo iria chorar, se alguma namorada ia lembrar de mim, se meu livro ia vender depois de morto... Por que depois que morre todo escritor vende. O que é loucura? Rodrigo. Isso é engraçado. Porque quando se é um louco folclórico, cheio de indumentária e adereços – tipo Bispo do Rosário, Plínio Marcos, Gentileza –, aí ele é bem-vindo. Eu quero acabar com esse folclore porque eu me visto como uma pessoa normal. Não tem como definir loucura. Loucura é uma coisa perigosa de ser definida, por isso as pessoas falam tão pouco. As pessoas têm uma idéia mitificada da loucura, o Michel Foucault falava disso. Definir loucura é não saber como se está no mundo. Não posso crer que só existam loucos como eu, que têm noção do que é a doença. Têm loucos como o Bruno, que 102 Revista Literal
Por que escrever? Rodrigo. Escrever foi o que me sobrou. De tudo que tive, foi o que me restou a fazer. A escrita trouxe vida? Rodrigo. A leitura me trouxe vida. Eu lia o Proust, anotava umas palavras num papelzinho e no final do dia fazia um poema. Saía uma coisa sem pé nem cabeça. Na prosa eu trabalho o psicológico dos personagens. Sabe alguma poesia de cor? Rodrigo. Sim. Vou falar: MULHERES
Canetas compro e somem / Não são mulheres num só homem. E tem outra que eu gosto:
SURTO Pânico no circo aladodas têmporas
Endorfinas macaqueando a goiabada pineal Volts em volta Eletrodos todos
De branco culpados culpas pecados Haldol no leite Ralo do tempo
Clitóris de plástico na sopa de adrenalina
Nódoas nuas cristalizadas na nuca Nunca injete tudo Camisa sem mão sem mangas Nos olhos apenas antolhos Na janela áurea de peristilos punção de morte fode
Peixes fisgando anzóis comicham no corpo Baleias de chupeta Na veia sossegada o leão caminha inválido de juba cortada, cuspindo vida curta Em curto circuito fechado faixas vendas ferem as paredes
Que escritores você admira? Rodrigo. Gosto do João Gilberto Noll.
Há quem pense que ele é esquizofrênico. Rodrigo. Sério? Então ele não se assume? [risos] Sai do armário, Noll! Gosto do Wilson Bueno e do Ademir Assunção – adoro o livro dele Adorável criatura Frankenstein (Ateliê, 2003).
O que você diria para um jovem que deseja ser escritor? Rodrigo. Primeiro: Viva ao máximo! O que importa são os momentos. Se o livro for rejeitado, não desista! Se você gosta de escrever, então escreva para você mesmo. Eu só fui publicado quando escrevi para mim mesmo•
O escritor faleceu em 2009, deixando uma vasta obra em prosa e poesia, que vem sendo publicada pela Record, aos cuidados de Ramon Mello, autor desta entrevista. Mello também é o responsável pela adaptação de Todos os cachorros são azuis para os palcos, sob a direção de Michel Bercovitch; e o idealizador, ao lado de Marta Mestre, da exposição de telas de Rodrigo, realizada no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, em 2011. (BD)
Sem degraus as pilastras Sem grade degrade Degradado de sol de lua
Chuva desbotada Eletrochoque natural
Enguias guiam os volts na cabeça dos cegos de si
Revista Literal 103
João Antônio em quatro tempos Alguns apontamentos de e sobre João Antônio, a partir do livro com algumas de suas cartas e do III Encontro dedicado ao escritor, realizado no Rio, em 2008. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em agosto de 2005 e novembro de 2008
1. Bastidores da criação Os merdunchos, vagabundos, putas, meninotes, malandros, otários, trabalhadores, 171, trambiqueiros e pilantras, ninguém os vivificou melhor que o escritor João Antônio. Mais do que reflexo de sua história de vida, esse foco foi uma opção consciente, como mostra Cartas aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fábio Lucas (Ateliê Editorial/Oficina do Livro, 2005), com organização de Cláudio Giordano. É uma chance rara de se aprofundar no universo desse polêmico autor, cuja obra está sendo reeditada pela CosacNaify. [NE. A editora publicou belíssima edição de seus Contos reunidos em novembro de 2012] Em carta ao amigo Caio Porfírio Carneiro, datada de 15 de outubro de 1974, João Antônio faz uma forte crítica à literatura brasileira. “O universal está no particular, e isto é verdade artística desde Cervantes e Dostoievsky. O resto é pirueta mental, é preguiça. Essa tal tendência universalista faz, entre outras coisas, com que não apareça entre nós uma literatura que abarque áreas sociais e de comportamento como o futebol, a umbanda, vida industrial, áreas proletárias, além de outras formas atuais da vida brasileira que estão aí, inéditas, esperando intérpretes e interessados.” 104 Revista Literal
João Antônio fez questão de trazer essa massa invisível para as páginas de seus contos, sobretudo na recriação da linguagem peculiar do povão. Da forma como se expressam os personagens, mal se percebe a mediação do escritor (que, no entanto, tem peso incisivo), que vivia nas rodas de sinucas, nos afamados pés-sujos, em sintonia com a gente pobre por quem nutria grande admiração. João Antônio lançou em 1963 o seu hoje clássico Malagueta, Perus e Bacanaço, com contos memoráveis, como o que intitula o livro, além de “Frio” e “Meninão do caixote”. Arrebatou prêmios, foi traduzido na Alemanha, Argentina, Tchecoslováquia, Polônia e Espanha, mas vivia numa pendura só, sem o “tutu” a que sempre se referia nas cartas aos amigos. Depois de 12 anos esperando a oportunidade de lançar um segundo livro, Leão-de-chácara, viu a segunda edição de Malagueta… e o novo título esgotarem-se em 12 dias. Com certeza, 1975 foi um ano prolífico para João, no Rio. Além destas obras, publicou Malhação do Judas carioca e, no ano seguinte, Casa de loucos. Mas o caminho já vinha sendo preparado há muito tempo. “Ando muito interessado numa literatura que, fugindo a gênero literário (essa coleira do capeta), seja menos literária e mais um corpo-a-corpo com a vida”, escreve a Caio em 23 de setembro de 1974. As
Reprodução
Revista Literal 105
experiências colhidas em anos e anos de jornalismo vão servir para João Antônio experimentar esta mistura de “corpo-a-corpo com a vida” com a literatura, algo que Norman Mailer e Truman Capote vinham fazendo nos Estados Unidos. “Lapa acordada para morrer”, narrativa que conta a ascensão e queda do bairro carioca como um dos principais pontos de circulação das faunas as mais variadas, é dessa fase. Seu início é memorável: “O último grande herói da Lapa foi o cachorro Elefante. Nos primeiros dias de março de 67, ele se estraçalhava entre os escombros de um desabamento na Rua dos Arcos, tentando salvar o seu dono, um emigrante espanhol, com trinta e alguns anos de Brasil. Com a morte de Elefante, vítima de sua fidelidade, de uma enchente e de um desabamento, se fechava o derradeiro capítulo heróico da história da Lapa”. Outro conto, “Olá, professor, há quanto tempo”, que flagra momento delicado por qual passava Darcy Ribeiro, é outro ponto alto deste período em que João Antônio aprofunda suas experiências que misturam o jornalismo com uma narrativa mais próxima à literatura. Momentos íntimos desta trajetória, como a difícil peleja do radical que se aburguesou em uma cobertura em Copacabana, casado e com filho, mas não deixou de viver as penduras da vida, são revelados nesta reunião das cartas a dois de seus maiores companheiros. Cartas aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fábio Lucas ajuda a definir os contornos biográficos de João Antônio, como afirma Cláudio Giordano na apresentação. Filiando-se à estirpe de escritores compromissados com o fato social como Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Oswald de Andrade, João Antônio foi um severo crítico do beletrismo, “de uma cultura precariamente importada e pior ainda absorvida, aproveitada, adaptada”. Para ele, faltava aos escritores o corpo-a-corpo com a vida. E propôs que saíssem de suas clausuras e enfrentassem as ruas para narrar o Brasil. “Como na vida, o escritor brasileiro vai tendo um comportamento típico de classe média – gasta mais do que consome, consome mais do 106 Revista Literal
que assimila, assimila menos do que necessita”, afirma em texto que encerra Malhação do Judas carioca. Nas cartas à Fábio Lucas do início dos anos 1990, aparece um retrato incisivo dos caminhos que o mercado editorial iria trilhar daí para frente. A 9 de janeiro de 1990, escreve: “Os tempos mudaram (e v. sabe disso, Fábio, Sábio Lucas) e hoje os editores precisam entrar de rijo no mercado, serem marketeiros, como se diz agora. Uma livraria, há muito e muito tempo, não temos uma livraria. Temos, sim, balcões de lançamentos, com 90% dos títulos para autores estrangeiros. E, não necessariamente, de boa qualidade. Os tempos são assim e v. sabe. Foi-se, danou-se o tempo em que livreiro e editor, quando bons, eram verdadeiros missionários. A hora e vez é dos marketeiros”. Dois anos depois a situação parecia pior. Em nova carta ao amigo, João Antônio anota: “Nunca vi a área editorial e a cultural na situação a que chegamos. Vendas caídas, editoras não querendo investir nem em reedições de títulos conhecidos, tidos e havidos como importantes, todos só querendo aplicar com todas as certezas. Um jornalismo cultural que não pode sequer levar esse nome: pífio, calhorda, mais colonizado que… Há um impávido, solene e gigantesco desprezo e até escárnio por tudo quanto é produto cultural brasileiro. Nos jornais, nas revistas, no rádio e na tevê nem se fala”. Pior para nós, que não temos mais João Antonio por aí a contrariar o coro dos contentes.
2. Calote
João Antônio, incansável escritor e jornalista, foi também um defensor dos direitos dos escritores. Maltratado como muitos outros pelo nosso sistema literário e editorial, respondeu assim à pergunta do também escritor Octávio Ribeiro, na entrevista publicada pela Folha de S. Paulo em 22 de janeiro de 1978:
“Você já levou muito calote?
João Antônio. Cinema, por exemplo, levei um trambique, né? Todo mundo sabe. Estou pro-
Reprodução
Maurício do Valle, Gianfrancesco Guarnieri, Lima Duarte e o escritor João Antônio nas filmagens de O jogo da vida (1977), dirigido por Maurice Capovilla e inspirado no conto “Malagueta, Perus e Bacanaço”
cessando a Bloch Editores na Justiça, prá ver se eu recebo [pela] Antologia Brasileira em Curso. Tenho aí em casa um caderno só de calotes e que inclui grandes nomes da imprensa nacional, quer dizer, levei calote a torto e a direito. Colaborações que me pediram. Contos que publicaram e que nunca me pagaram e ficou tudo por isso mesmo, tal e coisa, e assim por diante, quer dizer, tradução, por exemplo, o único dinheiro que eu vi de tradução – e isso é muito bom pra certos caras que falam besteira aí – foi da Checoslováquia. Foi o único país que me pagou por tradução o resto não me pagou, não. Eu fui traduzido na Espanha, fui traduzido na Argentina, fui traduzido na Venezuela, fui traduzido na Checoslováquia, na Polônia, na Alemanha Ocidental.”
No cinema, a única adaptação de uma obra sua – por sinal, sua estréia com o conto “Malagueta, Perus e Bacanaço”, no livro homônimo premiado em 1962 antes ainda de ser publicado, e que levaria o Jabuti no ano seguinte – foi paga pela metade. O jogo da vida, dirigido por Maurice Capovilla em 1976, consumiu quase Cr$ 2,5 milhões, muito nas longas seqüências passadas nas mesas de sinuca e rodadas nas próprias casas, bares, botecos e muquifos de São Paulo, alugados pelo total das mesas, seguindo a tabela-hora cobrada em cada local, como nos informa Aramis Millarch, em texto sobre o filme para o Estado do Paraná, em 07 de março de 1978. No mesmo artigo, Millarch acrescenta: “João Antônio, que apesar de ter recebido Cr$ 80 mil Revista Literal 107
o João, eu fiz o roteiro com o [Gianfrancesco] Guarnieri e mostrei para ele. Ele aprovou o roteiro e aí fizemos um contrato com a Embrafilme, um contrato de direitos, que era em duas parcelas: uma parcela inicial, que ele recebeu, e outra que seria no lançamento. Essa do lançamento atrasou, uma enrolação com a Embrafilme, e ele de repente ficou achando que não havia recebido o devido, enfim. Não era problema de roteiro, depois que ele começou a criticar o roteiro, mas era um problema de pagamento de alguma coisa. Essa entrevista era mais ou menos recente, quer dizer, ele ficou com isso na cabeça. Capovilla. Ficou. Nós tínhamos uma amizade e nunca mais nos falamos, para você ter uma idéia. Por causa disso. Por problema de parcela de direito autoral.”
pela venda dos direitos autorais de seu conto reclamando, não tem razão para protestar: seu belo texto não poderia ter resultado num filme mais belo, honesto e, principalmente, com o sentimento brasileiro do que este”. Beleza não enchia barriga, porém, assim como continua não enchendo. Segundo Maurice Capovilla, diretor da adaptação, o imbróglio se deu devido a uma “enrolação com a Embrafilme”, que acabou custando também a amizade entre o diretor e João Antônio. Em entrevista à Juliano Tosi, publicada em 5 de julho de 2006 na revista on-line Contracampo, Capovilla falou sobre o assunto:
“E você trabalhou com o João Antônio na
adaptação, mas eu li numa entrevista que ele não gostou muito do filme, que deveria ter sido mais sujo, filmado em preto e branco… Capovilla. Houve uma história que é a seguinte: na verdade, eu nem cheguei a trabalhar com 108 Revista Literal
Esta, dentre outras facetas de João Antônio, aparece com regularidade entre a metade final da década de 1970 e o começo da década de 1980 no Caderno de Sábado, suplemento semanal do diário gaúcho Correio do Povo, que documentou as idéias em discussão no cenário literário brasileiro naquele intervalo em que subsistiu. Antonio Hohlfeldt, então jornalista do suplemento e hoje professor na PUC do Rio Grande do Sul, esteve no Rio de Janeiro, participando do III Encontro João Antônio no final de outubro de 2008, e apresentou, além dos textos propriamente ditos de e sobre João, um panorama sobre esse paulista do interior com alma carioca e sua posição proativa na literatura brasileira naquelas décadas. Para ele, João era “um calígrafo constante, a correspondência ativa e passiva certamente deve e terá que ser resgatada”, para que possamos compreender um pouco mais como se articulava o nosso sistema literário e editorial e o papel ainda subestimado de João nesse contexto. No texto “Corpo a corpo com a vida”, no Correio do Povo de 24 de janeiro de 1976, – provavelmente publicado em muitos outros periódicos do país, como costumava fazer na época, ao enviar o mesmo artigo para jornais do Nordes-
te, Sul, Sudeste –, João comenta o então estado das coisas entre os nossos escritores: “Como na vida, o escritor brasileiro vai tendo um comportamento típico da classe média – gasta mais do que consome, consome mais do que assimila, assimila menos do que necessita. Finalmente, uma vida predatória em todos os sentidos. [...] O de que carecemos, em essência, é o levantamento de realidades brasileiras, vistas de dentro para fora. Necessidade de que assumamos o compromisso com o fato de escrever sem nos distanciarmos do povo e da terra. [...] Literatura de dentro para fora. Isso é pouco. Realismo crítico. É pouco. Romance-reportagem-depoimento. Ainda pouco, pode ser tudo isso trançado, misturado, dosado, conluiado, argamassado uma coisa na outra. E será bom. Perto da mosca. A mosca – é quase certo – está no corpo-a-corpo com a vida.” Um mês depois, em depoimento a J. Montserrat Filho para o mesmo jornal, João comentava o descaso com o escritor brasileiro. “No Brasil, todos ganham com o trabalho do escritor, menos o próprio escritor. [...] Acho necessário, fundamental, urgente e imprescindível uma ampla, intensa e maciça campanha nacional em favor das obras nacionais e para estimular o hábito da boa leitura e o debate cultural em todos os níveis. E esta promoção já chegaria com atraso, e longo atraso.” Naquela tarde do final de outubro, dentro do III Encontro João Antônio, na Rua do Mercado, centro velho/renovado do Rio, Antônio Hohlfeldt comentou a importância da faceta aglutinadora e articuladora de João: “Uma das coisas importantes de João Antônio a perpassar estes artigos, a pequena correspondência que mantive com ele, e as dedicatórias é que realmente ele tinha um extraordinário papel de fomentador, aglutinador, provocador, articulador de gente através de todo o Brasil. Eu não sei com quanta gente ele se correspondia, mas certamente não era só comigo. E, portanto, imagine o quanto ele dedicava do tempo dele para escrever para todo mundo. Se a gente pega esse pequeno volume da correspondência com o Caio e o Fábio Lucas [do livro mencionado no tópico anterior],
vemos muitas cartas dizendo “Ô, Caio, vê se tu publicas esse artigo aqui”, “Ô, Fábio, faz isso”. Ele articulava permanentemente, e não só para ele, mas para outros escritores também. Essa liderança do João Antônio é uma coisa muito importante.” Em novembro daquele ano de 1976, prolífico em participações de João Antônio no Caderno de Sábado, ele antecipava em um artigo o livro que sairia no ano seguinte, intitulado Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto (Civilização Brasileira). Começava assim: “O mulato nasceu num dia de encabulação, uma sexta-feira, treze, e estivesse vivo, faria noventa e cinco anos. [Em 2008, seriam 127 anos.] Morreu em 1922 e, mesmo depois de morto, pagou caro pela coragem, valentia e gênio. Afinal, vivemos num mundo em que não se tem essa singularidade impunemente. Mais ainda quando salta a característica do caráter. Um homem de caráter paga por isso. E, no caso de Lima, pagou durante a vida e pagou depois da morte. Escrever como e o que escrevia já naquele tempo significava restrições e nome no índice dos jornais. Mesmo com o autor já morto. Daí a condição, em que até hoje é mantido, de uma espécie de pingente no quadro geral de nossos valores literários. Literalmente. E mais – com a carga de inconveniente honestidade que o questionamento de sua obra acarreta e exige.” Com certeza, a belíssima coleção da CosacNaify tem ajudado João a sair dessa condição de pingente. Mas isso começou a se dar recentemente, apenas em 2001, com a publicação de Abraçado ao meu rancor, seguido de Ô, Copacabana! (2001), Leão-de-chácara (2002), Dedo-duro (2003) e Malagueta, Perus e Bacanaço (2004) [NE. E chega ao auge com a publicação agora dos Contos reunidos]. E, feitas algumas alterações de data, poderíamos estar lendo acima sobre o próprio João, que amalgamou muito cedo, e até o fim, vida com arte. Não havia delimitação clara onde começava uma e terminava outra. Mesmíssimo caso de Lima, por sinal. Além disso, criaram uma linguagem que se desprendia do oficiaRevista Literal 109
lesco e burocrático, ao mesmo tempo em que conseguia traduzir o que se ouvia, se ouve nas ruas. Ambos nos deixando precocemente, Lima aos 41 anos, carcomido pelo excesso de parati – batida com cachaça muito popular no início do século passado – e a loucura que o levou a duas internações, uma por opção própria; João pouco antes de completar 60 anos, “abraçado ao seu rancor”, para citar o livro de 1986, cujo conto que titula a obra narra uma passagem amargurada por uma São Paulo que ele não reconhecia mais. Arte e vida, amalgamadas. Paga-se um preço por isso, e, tanto João como Lima Barreto, a quem aquele dedicou todas as suas obras, o fizeram com suas próprias vidas, extintas precocemente. Talvez fosse um romantismo de ambos não vislumbrar isso. Talvez.
3. Social realista
1963, Presidente Altino, proximidades de Osasco, interior de São Paulo. Um carro pouco visto na cidade pára em frente ao portão dos Ferreira. A mãe se assusta, pensa na polícia vindo buscar o filho. Crasso engano, eram senhores respeitáveis, escritores, poetas, todos de terno, que vieram da capital avisar ao então garoto de 20 e poucos anos do Prêmio Jabuti que ele havia ganhado como autor revelação e melhor livro de contos por Malagueta, Perus e Bacanaço. Quem lembra da história é Daniel Pedro de Andrade Ferreira, o único filho do escritor. Ele esteve no III Encontro João Antônio, veio de Florianópolis, onde mora atualmente, e falou sobre o pai, lembrou histórias e estórias e também doou ao Acervo João Antônio fotos, documentos, cartas, anotações que ainda mantinha consigo. Daniel é fruto do casamento de João Antônio com Marília Mendonça Andrade em 1967. Ele nasceu no mesmo ano. Mas logo depois o casal separou-se e Marília se mudou para Paris. Daniel perambulou ainda por Londres, depois fixou-se no Texas, Estados Unidos. O português, portanto, é sua quarta língua, pois foi alfabetizado em francês, e aprendeu antes o inglês e espanhol. Mesmo assim, com um pouco de sota110 Revista Literal
que, seu português é claro, quatro anos de volta ao Brasil, aos 41 anos. Daniel afirma que a paixão de seu pai, a grande paixão, era a obra, o que lhe custou o casamento e a distância do filho. “A nostalgia da malandragem morreu junto com ele. Estudei a obra dele nos Estados Unidos como um social realista, alguém que escancarou algumas verdades contra o autoritarismo burocrático dos governos”, conta Daniel, que estudou Ciência Política na Universidade Texas A & M, referindo-se à conhecida (lá fora, inclusive) política latino-americana corrupta e leniente. “Na Alemanha, em Heidelburg, para onde quiseram levar o acervo dele, o consideravam o mais brasileiro dos escritores por conseguir retratar isso. Ele é muito estudado, esteve por lá nos anos 1980 à convite, quando escreveu o conto ‘Nove meses sem sol’.” Sobre o viés social realista de seu pai, Daniel afirma que o norte-americano o enxerga assim, naturalmente que no meio onde sua literatura é mais conhecida, nos campos de estudos latinos, literários e políticos, nas universidades. “Aqui, a ótica da malandragem se sobrepõe”. E você acha que essas pessoas retratadas por seu pai liam seus contos? Ele tinha essa preocupação de retornar àqueles que lhe inspiravam as estórias? “Não, não, eles não lêem. Malagueta não lia, jogava sinuca. O povo não lê. O personagem dele, não. Mas acho que a intenção era outra, mostrar que eles existem, sentem, amam. Ele expôs uma época nostálgica da malandragem, que acabou.” Daniel ajudou e ajuda na tradução de contos de seu pai, permeada por gírias e neologismos. “Mesmo com todo o cuidado, não fica a mesma coisa, como nunca fica nada que é traduzido. Mas João Antônio é muito difícil.” Entre os contos traduzidos para o inglês, estão “Joãozinho da Babilônia”, “Meninão do caixote” e “Afinação da arte de chutar tampinhas”. Este último, por exemplo, ficou com o seguinte título: “Defining the art of kicking bottle tops”. “Se tivéssemos de ser fiéis, seria ‘Defining the art of kicking little bottle tops’, mas aí a sonoridade não encaixa. E cada frase é assim, a dificuldade começa no título. O importante é passar a idéia, o significado, como música, a fluência, o som, combinar os dois da melhor maneira possível.”
4. Rancor
Com fortes influências de Graciliano Ramos e dos russos modernos, da era pré-Stalin, João Antônio foi construindo seu arcabouço literário e conseguiu, como poucos, narrar em terceira pessoa sem folclorizar, tratar da situação de pessoas que vivem à margem como uma necessidade, algo não-idealizável a princípio, pois parte do fato bruto, irremediável de não ter o que comer. O que, segundo Brecht, justificava muita coisa. Primeiro o estômago, depois a moral, dizia o dramaturgo alemão. São humilhados, ofendidos por estar naquela situação. Utilizam-se da picardia, do logro, da galhardia, da desfeita acintosa na longa jornada destes perdidos na noite suja, para homenagearmos aqui talvez o único parceiro estilístico de João, Plínio Marcos. João Antônio trabalha com a estilização, a transliteração das falas, das gírias deste lúmpen, nunca com a transposição, o que poderia resvalar no pitoresco. Uma literatura para se ouvir, em velocidade, e ritmada. Abraçado ao meu rancor, publicado em 1986, trata do reencontro com São Paulo, cidade que o autor havia trocado ainda no final dos anos 1960 pela sua Copacabana e pelo Rio de Janeiro. Na verdade, João sempre esteve indo a e vindo de São Paulo. Pode-se pensar em um acerto de contas com uma cidade que habitava a sua memória e já não existia mais nos anos 1980. Permeado por uma melancolia atroz, o conto que dá título ao livro exala uma tristeza e impotência frente à modernização tecnocrática levada ao cabo pela ditadura. A impessoalidade toma conta e a São Paulo do Teatro Municipal, de Sérgio Milliet, dos artistas, dos turfistas, das classes misturadas, convivendo e circulando juntas, não é mais possível. O fetiche da mercadoria, tão bem descrito por Karl Marx, revela-se por inteiro. A cidade torna-se, assim, a maior de todas as mercadorias. Está à venda, acompanhada de
Reprodução
[Escrito a partir da fala de André Bueno, professor de Teoria Literária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no III Encontro João Antônio]
toda sua falsidade, acetinada, revisitada por João com amargura e melancolia, o provincianismo por inteiro. O personagem, a princípio na capital para um encontro de publicidade, nauseado com a falsidade abundante, toca a andar. O longo caminho de volta à sua São Paulo, porém, não é mais possível. Somente no espaço, mesmo assim transfigurado; não no tempo. A impessoalidade da capital do subdesenvolvimento latino é tão áspera, que o alter ego de João a caminhar torna-se um estrangeiro. A dureza do presente, a mercantilização escancarada da vida, a cidade à venda. Pego na contramão, amargura-lhe a sociabilidade desfeita, a lógica perversa da modernização, que nos faz ser mais condescendente com o passado. A sociabilidade mais amena de outrora não tem mais espaço na cada vez mais sufocante cidade concretada. Mesmo a viração, onde João conseguia enxergar certa dignidade, ainda que não idealizada, degrada-se a uma velocidade impressionante. Estão, estes dependentes da viração, mais cansados, mais cinzas. O rancor parece permear sua própria condição, a de João, agora classe média, escritor conhecido e premiado, jornalista militante, influente. Culpa, náusea, raiva dessa classe média e seus problemas. João procura por uma cidade deslocada, a sua cidade. Poderia voltar a ela? Não há mais volta possível na cidade que deu em outra, no país que deu em outro, na sua própria vida, idem• Revista Literal 111
Ninguém pode impedi-los de escrever “A nossa literatura tem menos crase e ponto-e-vírgula, mais ainda assim é literatura. A nossa literatura”, afirma Sergio Vaz. Fundador da Cooperifa, ele aposta em um tipo diferente de escritor. Por Cecilia Giannetti Publicado originalmente em março de 2008
“O artista não pode ser um bunda-mole 24hs por dia. O dinheiro não pode ser a única inspiração do artista. Fomos educados (?), na periferia, para odiar livros. Alguma coisa deu errado. (…) Ninguém pode nos impedir de escrever. De gostar de poesia. De possuir livros. De gostar do conhecimento.” Sérgio Vaz solta verbo e fala sobre a literatura produzida na periferia e a Cooperifa, cooperativa que tem aproximado os livros e transformado em escritores todo uma população que sempre esteve à margem.
Como você chegou aos livros? Pode falar um pouco da sua infância, adolescência? Em que você era ligado? Sérgio Vaz. Como todo garoto de periferia, eu queria ser jogador de futebol – aliás ainda quero – e tive uma infância feliz, apesar da dura realidade. Meu pai era um devorador de livros, foi ele quem me incentivou a ler. Me comprava livros de histórias infantis, coisas do tipo Ali Babá, Branca de Neve etc. Aí, para chegar aos livros dele foi um pulinho. Quais as suas influências na poesia? Sempre gostei muito de Pablo Neruda, Ferreira Gullar, Mário Quintana, João Cabral, vários. 112 Revista Literal
Você faz distinção entre a poesia lida nos saraus da Cooperifa e as letras de rap que são cantadas ou recitadas nos eventos? O que esses rótulos significam para você? A poesia que se lê no sarau é um pouco da história de cada um, com doses homeopáticas de drama e comédia. Os futuros poetas, quando chegam no Sarau da Cooperifa, muitos trazem consigo a dor, a raiva, o rancor, a tristeza, a alegria discreta, expostas em seus escritos. Lá aprendemos a consertar o poema e o poema aprende a nos consertar. A letra de rap é a crônica do dia-a-dia, é uma coisa mais direta, por isso chega mais rápido na mente da rapaziada. Desde o começo dos saraus, até hoje, com a Cooperifa já bastante conhecida pelo Brasil, quais as principais vitórias que você destacaria nessa trajetória? Muita gente que nunca havia aberto um livro, aprendeu a gostar de ler. Muita gente voltou a estudar por causa do sarau. Muita gente entrou na faculdade por causa do sarau. Muitos tccs e trabalhos escolares são feitos por pesoas que frequentam o sarau. Isso é uma vitória de toda uma comunidade.
Ainda há resistência acadêmica – ou, mais amplamente, social – à poesia apresentada pela Cooperifa? O “falar errado” que você menciona no texto “Mil graus na terra da garoa”, como pude ver no sarau, é um falar poético também, e já incorporado, sem preconceitos, pelos poetas que se apresentam lá. Sei que muita gente se incomoda com a gente, “… palavra bonita na boca de gente feia…”, a nossa literatura às vezes tem menos crase e ponto e vírgula, mais ainda assim é literatura. A nossa literatura. Ninguém pode nos impedir de escrever. De gostar de poesia. De possuir livros. De gostar do conhecimento. Talvez eu desconheça, mas ninguém da academia nunca se esforçou para que isso acontecesse. Ora, eles não deveriam estar felizes também?
O foco principal da Cooperifa é a periferia, e assim se manterá? A periferia é a razão de tudo. Quando cheguei a Piraporinha, levada pelo Jairo (rapper, poeta e taxista), ele me explicou que ali era uma região “culturalmente fantasma”. Mas você consegue reunir um público fiel, e ampliá-lo, levar gente de diversas partes de São Paulo até Piraporinha.
Como a população local vê o projeto? Por conta da Cooperifa, muita gente não precisa ir ao centro para conseguir assistir um espetáculo de teatro, por exemplo. A Cooperifa só dá certo porque é uma relação de humildade com a quebrada. A gente faz a gentileza de ler poesia, eles fazem a questão de escutar. O livro chegou na comunidade através da oralidade. O livro muitas vezes se porta de forma arrogante diante dos mais humildes. Sem contar que fomos, na periferia, educados (?) para odiar os livros. Alguma coisa deu errado.
Quais os planos da Cooperifa para 2008? Nosso documentário produzido pela DGT Filmes sai agora em março, temos uma antologia poética com 50 autores da comunidade, ampliação do sarau até outras quebradas, Sarau da Cooperifa nas escolas (se os jovens não vão ao sarau, nós vamos até eles. Se depender da gente ninguém vai ficar sem poesia), lançamentos de livros, poesia no ar, a Semana de Arte Moderna da Periferia, Semana Cultural da Periferia, e mais algumas coisinhas que ainda estão sendo planejadas. Onde a gente encontra os livros dos poetas da Cooperifa, é os seus? É possível comprar pela internet? Meu livro Colecionador de pedras, que faz parte da coleção Literatura Periféria da Global Editora, está à venda em várias livrarias do Brasil. Mas muitos dos nossos livros só se encontram indo ao Sarau da Cooperifa. Ou então acessando o blog Colecionador de Pedras.
A arte na periferia precisa ser engajada? Por que optar pelo caminho da arte? Não necessariamente, ela apenas chegou em nossas vidas num momento em que nossos corações estavam tristes, por isso a gente não pára de reclamar. Mas também acho que o artista não pode ser um bunda-mole 24hs por dia. O dinheiro não pode ser a única inspiração do artista. O que é o “poeta cidadão” e quem, na sua opinião, atua hoje dessa maneira? Um poeta a serviço da comunidade. Do país. Um poeta simples, sem frescura• Revista Literal 113
114 Revista Literal
Literatura, pão e poesia
por Sérgio Vaz
A literatura na periferia não tem descanso, a cada dia chegam mais livros. A cada dia chegam mais escritores, e, por conseqüência disso, mais leitores. Só os cegos não querem enxergar este movimento que cresce a olho nu, neste início de século. Só os surdos não querem ouvir o coração deste povo lindo e inteligente zabumbando de amor pela poesia. Só os mudos, sempre eles, não dizem nada. Esses, custam a acreditar. Não quero nem falar dos saraus que estão acontecendo aos montes, pelas quebradas de São Paulo. Isto me tomaria muito tempo. Haja visto as dezenas de encontros literários, pipocando nas noites paulistanas. Cada qual do seu jeito, cada qual com seu tema, cada qual a sua maneira de cortejar as palavras. Mas eu quero falar mesmo e da poesia que se espalhou feito um vírus no cérebro dos homens e mulheres da periferia. Pois é, essa mesma poesia que há tempos era tratada como uma dama pelos intelectuais, hoje vive se esfregando pelos cantos dos subúrbios à procura de novas emoções. O tal poema, que desfilava pela academia, de terno e gravata, proferindopalavras de alto calão para platéias desanimadas, hoje, anda sem camisa, feito moleque pelos terreiros, comendo miudinho na mão da mulherada. Vocês, por acaso, já ouviram falar do tal poema concreto? Pois é, os trabalhadores e desem-
pregados estão construindo bibliotecas com eles, nas favelas. E o lobo mau pode assoprar que não derruba. Apesar da pouca roupa que lhe deram está se sentindo todo importante com sua nova utilidade. A periferia nunca esteve tão violenta, pelas manhãs é comum ver, nos ônibus, homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas. Jovens traficando contos, adultos, romances. Os mais desesperados, cheirando crônicas sem parar. Outro dia um cara enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um acróstico bem forte na cara. Ficou com a rima quebrada por uma semana. A criançada está muito louca de história infantil. Umas já estão tão viciadas, que, apesar de tudo e de todos, querem ir para as universidades. Viu, quem mandou esconder a literatura da gente? Agora nós queremos tudo de uma vez! Dizem por aí que alguns sábios não estão gostando nada de ver a palavra bonita beijando gente feia. Mas neste país de pele e osso, quem é o sábio? Quem é o feio? E olha que a gente nem queria o café da manhã, só um pedaço de pão. Que comam brioches! Não, não é Alice no País das Maravilhas, mas também não é o Inferno de Dante. É só o milagre da poesia. Quem é que odeia ler agora? Revista Literal 115
JOSÉ 1914-2010 MINDLIN O bibliófilo advogado e empresário José Ephim Mindlin faleceu no dia 28 de fevereiro de 2010, aos 95 anos em São Paulo, e deixa um legado, um acervo e um exemplo que talvez nunca mais se repita neste país. Pode descansar tranquilo agora ao lado de sua amada de toda uma vida, Guita, que havia partido em 2006. Mas fica, sobretudo, a experiência de uma paixão dedicada aos livros e tudo aquilo que eles ensinam, revelam e acrescentam à experiência humana. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em março de 2010
Mindlin sempre afirmou que a “manifestação do acaso geriu os acontecimentos ao longo da vida, sem que tivesse ambicionado ou procurado”. Modéstia, talvez exagerada, do advogado e empresário que começou no jornalismo com menos de 16 anos, na redação de O Estado de S. Paulo, tornando-se o redator mais moço da história do jornal, onde aprendeu a escrever com clareza e simplicidade e onde também foi conhecendo e se tornando amigo de alguns importantes nomes da nossa intelectualidade do século XX que por ali transitavam no período. Casou-se com Guita em 1938 e, o que já se anunciava como uma árvore frondosa por este período, a biblioteca do casal, logo seria classificada como uma verdadeira floresta, que passou dos 80 anos de existência. Ex-proprietário da Metal Leve, Mindlin freqüentou as aulas na Faculdade de Direito no 116 Revista Literal
Largo São Francisco, em São Paulo, mas aproveitava mesmo era para ler literatura no fundo da sala, enquanto o professor se demorava nas leituras dos textos jurídicos, que o então estudante deixava para fazer em casa. “Como Montaigne, eu tentava uma, duas vezes, senão desistia do texto. Não faço nada sem alegria. Nos cinco anos de faculdade, li literatura de ficção e biografias. Aprendi muito mais de literatura do que de direito”, brincou. “Não faço nada sem alegria”, aliás é a frase que tomou emprestada do francês para o seu ex-libris. Mindlin e Guita doaram há cinco anos parte de sua frondosa biblioteca à Universidade de São Paulo (USP), que está construindo um prédio exclusivamente para armazenar a coleção chamada Brasiliana, formada por 17 mil títulos, num total de 40 mil volumes (cujo total chega aos 60 mil livros) com obras raras e ma-
nuscritos, muitos cujos exemplares são únicos, sobre História do Brasil e literatura brasileira. “A Universidade de São Paulo está construindo o prédio para recebê-la, e sua perenidade está assegurada. Vislumbro um crescimento destas fontes para os estudos brasileiros”, afirmou em agosto de 2007, quando foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Passo Fundo (RS), na 12. Jornada Literária de Passo Fundo. Com a voz embargada e bastante emocionado, concluiu: “Quando se diz que a comoção dificulta a fala, hoje senti na pele”, disse um dos mais importantes cidadãos brasileiros, cujo respeito, carinho e amor pelos livros e tudo o que representam não teve similar até hoje. E dificilmente terá. Enquanto a Brasiliana não ganha definitivamente a sua sede fixa, outra iniciativa do projeto segue a todo vapor: a digitalização deste incrível acervo, que conta com obras raras dos primeiros navegadores a aportar no que viria a ser conhecido como Brasil, primeiras edições de Machado de Assis, José de Alencar, Cruz e Sousa, Olavo Bilac, entre tantos outros, além de manuscritos de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, para ficarmos com dois dos maiores escritores brasileiros de meados do século XX. [Leia mais na p. 116.] A seguir, trechos da entrevista coletiva concedida por Mindlin quando de sua passagem pela 12. Jornada Literária de Passo Fundo, em agosto de 2007. Como começou essa história de paixão pelos livros? José Mindlin. Começou desde a infância, porque eu tive a sorte de crescer num ambiente cultural. Meus pais gostavam de arte, de leitura, de modo que isso foi acontecendo insensivelmente. Agora, aos 12 anos, comecei a ler livros chamados “sérios”, como as obras de Alexandre Heculano, por exemplo. E era muito amigo do meu irmão, quatro anos mais velho que eu, e então quando ele lia um livro aos 16 anos, eu lia aos 12. E aos 13, comecei a freqüentar os sebos de São Paulo. Aí não acabou mais. Depois, ia ao Rio de Janeiro com certa freqüência, freqüentava os sebos lá, e onde quer que eu fosse, aqui ou fora do Brasil, sempre
procurava nas páginas amarelas quais eram as livrarias de livros antigos e os sebos. Com isso, a biblioteca foi crescendo. Mas ela não foi planejada, fui comprando livros que queria ler. Quando lia um livro de uma autor que tivesse me agradado muito, procurava os outros livros deste autor. Depois procurava livros sobre esses autores. E a gente sempre tinha, e até hoje tem, a ilusão de que vai conseguir ler todos os livros que compra. Mas é uma ilusão, a gente compra muito mais livros do que consegue ler. Isso acontece comigo e com todos os meus conhecidos, mas, enfim, outros vão ler esses livros que eu não li. De modo que o importante é conservar os livros.
O senhor tem também manuscritos de importantes romances da literatura brasileira, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Poderia falar um pouco sobre eles? Aí, quando você começa a estar realmente envolvido com a biblioteca, não há limite para o que se procura e aquilo que a gente encontra. Nos sebos e nas livrarias antiquárias mais especializadas, procuramos aquilo que gostaríamos de ter, mas também descobrimos uma porção de coisas que nem imaginávamos. Chamo isso de garimpagem. Em matéria de livros antigos, a gente tem grandes surpresas. E o importante é, primeiro, comhecer, saber o que a gente procura. Não adianta ir comprando livros a esmo. Se você fizer isso, vai ter uma acumulação de livros, mas não vai ter uma biblioteca. A biblioteca tem que ter alguns temas específicos, como literatura, viagens, arte, crítica literária, poesia. Agora, acontece assim mesmo de eu encontrar um livro que me atrai muito e que não tem nenhuma relação com as vertentes. Aí eu também compro, porque o livro é que é feito para a gente e não a gente feito para o livro. E brinco sempre que a nossa biblioteca é indisciplinada porque, quando acontece de encontrar um livro que não está nas vertentes, ou eu simplesmente compro assim mesmo, ou crio uma nova vertente. [risos] E com isso, a biblioteca foi crescendo e completa, neste ano [2007], 80 anos de formação. A maior parte deste tempo, em conjunto com minha mulher, Guita Mindlin, que faleceu no ano passado Revista Literal 117
Reprodução
118 Revista Literal
[2006]. Mas foi uma grande companheira e também gostava muito de ler, e de livros. De modo que a gente, muitas vezes, encontrava livros que estavam caros, e iriam, de certo modo, comprometer o orçamento mensal, mas a gente sempre acabava comprando, e abria mão de outras coisas. Os livros foram sempre um interesse central de nossa vida. E também toda a parte cultural relacionada, com leitura etc. Por exemplo, a gente tinha uma grande preocupação com os problemas sociais. No Brasil, há muita desigualdade que precisa ser eliminada. E um caminho de inclusão social muito importante é a leitura. A pessoa que lê se integra num ambiente mais amplo, passa a conhecer os bastidores da sociedade, as realidades políticas. E passa a reivindicar também essas
muitos livros que não estavam neste conjunto mereciam estar. E os próprios livros, acho que todos eles achavam que deviam estar na exposição. Aí prometia a eles que estariam nas próximas exposições. Minha relação com os livros da biblioteca sempre foi amigável. Porque me coloco na posição do livro, vejo o que eu sentiria se estivesse na prateleira e o dono da biblioteca passasse por mim sem me olhar, me pegar. Acharia muito ruim. Então a gente tem esse cuidado.
mudanças que a gente acha que são importantes. Na hora em que o Brasil tiver a população lendo, será um país diferente.
é uma coisa curiosa. Estou dando uma explicação que, cientificamente, não é defensável. Mas, um livro que eu, por exemplo, deixei de comprar e depois me arrependi, mas ele já tinha sido vendido, de modo que tive que me resignar. Mas aí passam anos e eu encontro, em outra livraria, aquele mesmo exemplar que tinha deixado de comprar. Isso é estranho, né?
Porque os livros têm certa personalidade… Eu sou cético, mas às vezes a gente acha que há alguma coisa sobrenatural. Porque a gente procura o livro e o livro procura a gente. Isso
“Tenho procurado inocular, na infância e na juventude, o vírus do amor ao livro. E ele é incurável, quem é inoculado vai gostar de livros para o resto da vida”
Isso lembra Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande amigo meu. Fez um grande trabalho, foi um educador de verdade. Agora, falar em educação como sendo a maior prioridade brasileira – e sempre tenho defendido essa idéia – sem o livro, não faz sentido. Você não obtém a educação sem o livro. De modo que acaba sendo o livro a grande prioridade brasileira. Com o livro, a criança, o jovem ou o adulto estabelece uma relação pessoal. O livro fica sendo um amigo da gente, e um amigo que não cria caso. Pode ficar cinco anos numa prateleira, sem a gente mexer, e quando a gente pega ele está a disposição, não reclama. Às vezes, existem ciumeiras dos livros. É uma coisa engraçada, porque não é algo fisicamente defensável, mas quando fiz uma exposição no Museu Segall, tive que escolher apenas 100 obras, e foi muito difícil, pois
Poderia falar sobre os leilões internacionais de relíquias literárias e se há algum objeto de desejo que o senhor gostaria de adquirir para a sua biblioteca. Bom, sempre existem objetos de desejos, mas eu também não sou escravo dos livros. De modo que se eu procuro um livro, ele está a venda em um leilão e não consigo comprar, eu não perco o sono por conta disso. Sempre acho “bom, nao foi desta vez, mas em outra consigo”. A gente tem que ter conhecimento, perseverança e paciência. E confiar na sorte, porque a sorte existe. Eu tenho histórias sem fim das garimpagens. E acho até que a garimpagem dá mais prazer do que ter o livro. Revista Literal 119
Conte alguma história para a gente. A história da primeira edição d’ O guarani [de José de Alencar] é interessante. Desta primeira edição, só se conheciam, 20, 30 anos atrás, dois exemplares. Apesar de ter sido um dos livros mais lidos do século XIX, desaparecerem os exemplares. A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo também. A moreninha e O guarani devem ter sido os livros mais lidos no século XIX. Mas a primeira edição desapareceu. Durante muitos anos, de A moreninha só se conhecia um exemplar, que pertencia a um grande colecionador do Rio, João Marinho de Azevedo, um homem mais velho, que eu respeitava muito. Ele morreu em 1958. Anos mais tarde, a família me fez presente do exemplar de A moreninha, o único existente no Brasil. Nem a Biblioteca Nacional (BN) tinha essa primeira edição. Dez anos depois de receber este exemplar de presente, apareceu no Rio outro exemplar. Pensei até que fosse lenda, mas exisitiu mesmo e foi comprado por um bibliófilo de Brasília, Décio Drummond. De O guarani, foi oferecido um exemplar aos bibliófilos do Rio e eles não compraram, creio que acharam caro. E eu não soube disso enquanto o vendedor ainda estava no Rio. E quando soube, procurei encontrar este vendedor, um grego, mas não deixava o endereço dele, só do Banco Morgan, em Paris. Escrevi, mas não tive resposta. E fiquei cismado, “quero ver se consigo este exemplar”. Um dia, recebo um catálogo de Londres, com o exemplar da primeira edição d’O guarani. Mandei um telegrama para um livreiro que conhecia, pedindo para ele comprar. E estava querendo tanto o livro, que telefonei a ele perguntando quanto que ele achava que O guarani alcançaria no leilão. E ele me disse: “Ah, acho que vai ser umas 20 libras”, o que seria um preço ridículo. Mas disse a ele que se tivesse brasileiros assistindo ao leilão, provavelmente iria a muito mais. Mas queria que comprasse mesmo assim. No dia do leilão, telefono outra vez para saber por quanto ele tinha comprado. E ele me disse: “Olha, eu não comprei, porque quando chegou a 60 libras – e eu tinha falado para você 20 –, achei que ficaria muito aborrecido”. “Aborrecido eu estou agora”, eu disse. [risos] Mas, paciência. Aí soube que era o exemplar do grego, que pôs no leilão, e como não houve lance maior que 60 libras, ele retirou o livro do 120 Revista Literal
leilão. Porque o livro valia, sei lá, 2 mil libras, algo assim. Depois, houve um leilão de livros raros sobre o Brasil, em Paris, que havia me interessado. E quando falo em sorte, acaso… recebo um convite da Air France para um vôo inaugural non-stop Buenos Aires-Paris. Sopa no mel, né? Fui a Paris e lá encontrei o dono da Livraria Kosmos, de São Paulo e do Rio, muito amigo meu. E ele me disse: “Tenho uma surpresa para você: o grego está em Paris e O guarani está comigo. Peguei para ele não fazer negócio com outra pessoa, então você se entenda com ele, não quero comissão, nem nada”. Eu me entendi com o grego, foi uma verdadeira epopéia, uma discussão de preços, mas acabei comprando e fiquei carregando o livro como se fosse no colo.
Quanto custou esta primeira edição de O guarani? Não costumo falar quanto pago, porque nunca vejo a coisa sob o aspecto material, mas lá eu fiz uma extravagância, paguei 4 mil dólares. Agora, 4 mil dólares a gente recupera. E o livro a gente não encontra mais. [risos] Então fiquei, como
disse, com o livro no colo, carregando o tempo todo a pasta onde ele estava. Peguei o avião da Air France de volta, e ele parava no Rio, onde descemos para pegar outro para São Paulo. Eu dormi na viagem, estava muito cansado, só abri a pasta no avião do Rio para São Paulo, e o livro não estava. Devo ter aberto a pasta meio dormindo e o livro deve ter escorregado. Deixei meu nome e telefone na Air France, informando o local onde estava sentado. Cheguei em casa, perguntei a Guita: “Sabe o que eu comprei?” E ela: “Não”. “O guarani.” “Ah, que coisa formidável!” “É, mas já perdi…”[risos] E estava resignado. Mas três dias depois a Air France me telefona dizendo que o livro havia sido encontrado em Buenos Aires, na limpeza do avião. Então foi o destino, e o livro voltou para mim. Qual jovem autor que surpreendeu o senhor nos últimos tempos? Olha, nos últimos tempos, eu tenho tido pouco contato, porque eu tenho uma grande prevenção com os chamados best-sellers. Porque fico na dúvida se estão se vendendo muito porque é muito bom, ou vendendo muito por causa de técnicas de mercado. Então prefiro deixar assentar a poeira, passar um, dois anos. Se depois de dois anos o livro ainda está fazendo sucesso, aí chego a conclusão que tem mesmo qualidades e vou lê-lo. Sobre os autores novos, estou com um problema, o departamento de nomes próprios da minha cabeça está avariado. [risos] Não consegui mecânico que consertasse, e só vou lembrar destes nomes quando tivermos saído daqui.
O que fica de uma experiência como a do senhor? Eu sempre vivi nesse meio [de livros e escritores], tanto na Faculdade de Direito, como antes, quando eu trabalhava no Estadão. Fui o redator mais jovem do Estadão, entrei em maio de 1930 e em setembro fiz 16 anos. Então fui, realmente, o redator mais moço. E n’ O Estado havia escritores como Oscar Pedroso Horta, Mauricio Goullart, Antônio de Alcântara Machado, autor de Laranja da China, ele freqüentava o jornal. Ficamos amigos, ele morreu muito moço, com 34 anos. Mas assim sempre freqüentando livrarias, e lá também ficava conhecendo escritores, amigos de
meus filhos também freqüentavam a nossa casa. O que tenho deliberadamente é procurado inocular, na infância e na juventude, o vírus do amor ao livro. E ele é incurável, quem é inoculado vai gostar de livros para o resto da vida. Hoje em dia, ainda que cada vez mais raramente, podemos encontrar edições artesanais, como as do Cleber Teixeira, seu amigo, que mora em Florianópolis. Gosto muito dessas edições artesanais. Porém, tive uma experiência muito curiosa. Em 1946, um amigo meu, que também era um grande leitor – prefiro ser classificado como leitor a colecionador; a coleção é uma coisa derivada das leituras que se foram acumulando –, me propôs fazermos uma livraria de livros raros, para irmos pescando livros que gostaríamos de ter. Não tínhamos dinheiro, mas ele tinha um primo disposto a investir no negócio. Passei três meses na Europa só garimpando. Quando chegavam os pacotes era uma alegria só. De repente, entrava um comprador. A gente ficava desapontado. [risos] Mas tínhamos a obrigação moral de vender por causa do outro sócio. E eu dizia ao comprador, “se um dia você quiser vender me procure”. E uns 15, 20 anos depois, tinha conseguido recomprar quase todos os bons livros que tinham passado pela livraria. Aí eu vi que vender livro é incompatível com gostar de livros. Livros que tive pena de vender, acabaram voltando para mim.
O senhor doou mais da metade de sua biblioteca, a coleção Brasiliana para a USP. E o restante dos livros? O restante, não sei. Aí os filhos que têm que resolver. Há várias obras que todos gostam e seria difícil determinar quem vai ficar com elas. Essas obras, é possível que a gente venda, e eles recebam o dinheiro. Depois eles vão comprar os livros que queiram. Com a simpatia de sempre, Mindlin finaliza convidando a todos para visitá-lo e conhecer a sua biblioteca. “Se vocês forem a São Paulo, terei muito prazer em recebê-los”, disse. E concluiu: “Não sou escravo dos livros, o que eu encontro me deixa satisfeito, o que não consigo não me deixa infeliz”• Revista Literal 121
O ritmo acelerado do projeto Brasiliana Digital “A nossa literatura tem menos crase e ponto-e-vírgula, mais ainda assim é literatura. A nossa literatura”, afirma Sergio Vaz. Fundador da Cooperifa, ele aposta em um tipo diferente de escritor. Por Felipe Pontes Publicado originalmente em fevereiro de 2010
Em artigo recente para o jornal O Estado de S. Paulo, Celso Lafer, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e João Grandino Rodas, novo reitor da USP, ressaltaram o bom desempenho da Universidade de São Paulo no Webometrics Ranking of World Universities, índice criado para avaliar o alcance e a qualidade da presença virtual de 8 mil universidades em todo o mundo. A USP subiu da 87ª para a 38ª posição. Ainda que o repositório digital de teses da USP conte com mais de 20 mil documentos on-line, a grande mola propulsora da instituição paulista nesse ranking é, sem dúvida, o projeto Brasiliana Digital, lançado em junho de 2008 e que visa digitalizar os cerca de 40 mil volumes de material bibliográfico colecionados durante mais de 80 anos pelo industrial José Mindlin e doados por ele e sua esposa Guita à USP em 2006. “Trata-se da reunião de um conjunto extraordinário de livros, manuscritos e documentos sobre a cultura e a história do Brasil. Fruto de uma vida de dedicação, tal coleção não pode ser recriada – logo, é única”, aponta o Prof. Pedro Puntoni, diretor da Biblioteca Bra122 Revista Literal
siliana Guita e José Mindlin em entrevista ao Portal Literal. Com o auxílio da máquina apelidada “Maria Bonita”, primeiro equipamento no Brasil capaz de processar 2500 imagens por hora de material raro e delicado, o ritmo de trabalho é acelerado e mais de 3 mil obras já se encontram disponíveis no site oficial do projeto. “São pessoas dedicadas que compreendem perfeitamente a dimensão política e social do trabalho. Nosso laboratório é um local de grande animação e engajamento”, expõe Puntoni sobre a equipe da Brasiliana Digital, tocada adiante numa parceria entre diversas unidades de ensino da USP, como a Escola Politécnica, o Instituto de Estudos Brasileiros e a Faculdade de Direito, e também de outros centros acadêmicos, como o Laboratório de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de PE. Entre os arquivos disponibilizados estão primeiras edições dos Sermões do Padre Antônio Vieira e da Obra Completa de José de Alencar. Desde o final de janeiro de 2010, quando foi lançada a versão 1.1 da BD, os fac-
-símiles em alta-resolução das obras podem facilmente ser baixados por qualquer um, já que através de uma nova tecnologia de compressão os arquivos diminuíram significativamente de tamanho sem perder a qualidade de imagem. Com uma impressionante marca de quase 600 mil acessos ao ser lançado em 2008, agora o projeto BD recebe de maneira estável uma média de 700 a mil usuários por dia. “Para um site que ainda está numa etapa de testes, nos parece um número muito bom. Isto é importante, porque este movimento é que nos tem permitido justamente testar a estabilidade do sistema, fazer os ajustes necessários, implantar novas tecnologias e pensar na formulação da versão 2.0 da Brasiliana Digital. Esta versão, que pretendemos lançar até o final do ano, será mais definitiva – ou, pelo menos, mais robusta e estável. Portanto, poderá ser compartilhada com outras instituições interessadas em colocar seus acervos à disposição do público”, informa Puntoni. Confira a seguir a íntegra da entrevista do Portal Literal com o coordenador adjunto do projeto Brasiliana Digital, professor Pedro Puntoni. É possível fazer um paralelo entre o extenso trabalho de digitalização da Brasiliana Guita e José Mindlin e outros projetos semelhantes no Brasil e no mundo? Quais o senhor destacaria? Pedro Puntoni. Sim. Procuramos definir as bases para um projeto mais amplo de digitalização de um acervo sobre assuntos brasileiros. Partimos do acervo da Biblioteca Mindlin e contamos já com a adesão de outros acervos da USP e mesmo de fora dela. Mas o horizonte é sempre mais amplo. Gostaríamos de contribuir para a formação de uma efetiva rede nacional que sustentasse a disponibilização ampla destes conteúdos que ajudam a formar nossa cultura. Para nós, evidentemente, uma inspiração será sempre o projeto da Biblioteca Nacional da França, o portal Gallica. Além disso, temos intenso diálogo com os colegas da Biblioteca Nacional Digital de Portugal.
Qual a sua opinião pessoal acerca da importância da Brasiliana colecionada por José Mindlin? Trata-se da reunião de um conjunto extraordinário de livros, manuscritos e documentos sobre a cultura e a história do Brasil. Fruto de uma vida de dedicação, tal coleção não pode ser recriada – logo, é única. Algumas peças são de maior valor, outras de valor insuperável. O datiloscrito de Grande sertão: veredas, com inúmeras anotações do autor [Guimarães Rosa], ou de Vidas secas [de Graciliano Ramos] – são exemplos de peças que constituem pontos altos da cultura brasileira. Como toda grande biblioteca, a de dr. José e Guita também tem o grando mérito de serem espaços de encantamento e de surpresa aos pesquisadores e aos leitores.
Você possui itens prediletos nesse acervo? Sim. Além destes dois já referidos, podia falar de muitos. Mas creio que aprendi com dr. José que esta sempre é uma escolha difícil: os outros livros preteridos ficariam com ciúmes… Na verdade, sou historiador do século XVII. Minha leitura me leva muito mais para estas paragens. Quais os critérios utilizados na escolha dos volumes a serem priorizados na digitalização? Estamos ainda numa etapa de pesquisa e de formulação de um modelo para a Brasiliana Digital. Neste momento, estamos formando uma equipe de colaboradores que está funcionando como uma curadoria para a literatura colonial, século XIX, para a historiografia, revistas culturais etc. Sendo assim, os critérios ainda não estão plenamente definidos, mas atendem a uma lógica que se estabelecerá aos poucos. Além disso, estamos atentos ao interesse dos usuários. É possível monitorar o movimento pelo site e pelo repositório digital e perceber, por exemplo, o grande interesse na literatura. Daí o enfoque grande que temos dado nos autores mais consagrados, como Machado de Assis, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, por exemplo. No dia 12 de fevereiro, colocamos no ar todas as obras literárias de José de Alencar. Revista Literal 123
Como anda o ritmo de trabalho, quais as principais dificuldades? O ritmo é acelerado. Temos uma equipe grande de colaboradores, a maior parte deles de bolsistas. São pessoas dedicadas que compreendem perfeitamente a dimensão politica e social do trabalho. Nosso laboratório é um local de grande animação e engajamento. Contudo, será muito importante consolidar uma equipe que dê uma sustentação maior e mais ampla ao trabalho. Dificuldades temos o tempo todo. Mas estamos exatamente querendo aprender com elas. São muito bem vindas nesta etapa, que ainda é de pesquisa e testes. Há estatísticas a respeito da procura pelo acervo? Número e origem de acessos, volumes mais requisitados, pesquisas que se valeram do acervo já digitalizado? Sim, temos estatísticas exatas – resultado do um instrumento de análise que é o Analytics 124 Revista Literal
da Google. Podemos acompanhar o acesso ao nosso site de diversas maneiras e temos usado estas informações com muito critério. Quando o site foi lançado, em junho de 2008, tivemos quase 600 mil hits. O que é impressionante e praticamente paralizou nosso servidor. Depois disso, passamos a ter algo como 6 ou 7 mil usuários únicos por dia e, mais tarde, estabilizamos entre 700 e mil usuários únicos por dia. Para um site que ainda está numa etapa de testes, nos parece um número muito bom. Isto é importante, porque este movimento é que nos tem permitido justamente testar a estabilidade do sistema, fazer os ajustes necessários, implantar novas tecnologias e pensar na formulação da versão 2.0 da Brasiliana Digital. Esta versão, que pretendemos lançar até o final do ano, será mais definitiva – ou, pelo menos, mais robusta e estável. Portanto, poderá ser compartilhada com outras instituições interessadas em colocar seus acervos à disposição do público.
Já há um cronograma de quais acervos e coleções serão digitalizados após o término da digitalização da Biblioteca Guita e José Mindlin? De pronto, já estamos digitalizando alguns poucos itens do Instituto de Estudos Brasileiros e iniciamos uma parceria mais forte com a Faculdade de Direito. Outras unidades da USP nos procuraram e a reitoria definiu este projeto de digitalização como uma das ações prioritárias da atual gestão. Novos desafios se desenham e estamos nos preparando para eles. Como anda a criação do Centro Guita Mindlin (CGM): Centro de Conservação e Restauro do Livro e do Papel? Ele já está em operação? Já há restauradores formados pelo Centro? Não. Trata-se ainda de um projeto. Contratamos alguns conservadores que tem trabalhado intensamente na digitalização dos livros. Um desenho mais detalhado está sendo feito e parcerias construídas. Temos grande expectativa nesta dimensão do Projeto Brasiliana USP, no sentido de colaborar de forma propositiva para o fortalecimento da cultura nacional, com iniciativas estruturantes e de formação de quadros.
Qual a previsão de inauguração do novo prédio da Brasiliana USP? Isto depende de processos burocráticos (e necessários) para o uso dos recursos já alocados e também da captação de recursos faltantes. Queremos ver a etapa 1, que é a Biblioteca Mindlin, pronta até o final deste ano de 2010! O senhor poderia falar um pouco o que pensa da digitalização da informação em centros acadêmicos? O que esse processo pode significar? A universidade deve contribuir para a cultura brasileira de forma efetiva e aberta. Os trabalhadores intelectuais da universidade, envolvidos com a produção cultura e histórica, estamos acostumados a um trabalho auto-referente e pouco generoso para com público em geral. No
entanto, devemos entender nossa atividade com um serviço à coletividade, como uma intervenção numa realidade perversa, culturamente colonizada e pouco solidária. O gesto generoso de José Mindlin de tornar pública sua biblioteca, formada ao longo de mais de oitenta anos de intenso amor à leitura e aos livros, serve de permanente inspiração. Devemos ampliar este gesto e, por meio nas novas tecnologias, permitir que cada vez mais pessoas possam ter o prazer de conhecer estes objetos magníficos (ou pelo menos, imagens deles) da cultura brasileira. Acreditamos que este projeto pode ajudar a transformar também a própria universidade, fazendo com que seus atuais (e transitórios) ocupantes olhem um pouco para além dos seus muros• Na entrevista ao Portal Literal em 2010, o coordenador adjunto, professor Pedro Puntoni, antecipava a elaboração de uma versão 2.0 da Brasiliana USP. O resultado desse upgrade é a Corisco, plataforma que hoje serve de suporte tecnológico à implantação de acervos digitais em instituições culturais e memoriais brasileiras. Por meio dela, a Brasiliana USP se tornou a referência mais avançada de biblioteca digital no país, disponibilizando com fácil visualização na internet mais de 3.200 itens até o final de 2012, a maioria composta por livros e periódicos raros. Cerca de 180 mil downloads gratuitos já foram realizados, contribuindo para que a USP continuasse a ascender, da 38a para a atual 15a posição no Webometrics, ranking que mede a qualidade da presença on-line de 19 mil universidades em todo o mundo, mantido pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) do Ministério da Educação espanhol. O princípio de tudo é desde o início o mesmo: acesso livre e universal ao conhecimento. (FP) Revista Literal 125
Reprodução
126 Revista Literal
Ricardo Piglia e a ficção paranóica O escritor e ensaísta argentino fala sobre o seu romance mais recente, Alvo noturno Por Bolívar Torres Publicado originalmente em novembro de 2010
Uma conferência com Ricardo Piglia, exímio narratólogo, não poderia ser diferente de seus livros: um discurso reflexivo e afetivo sobre a sua própria relação com a literatura. Foi assim também na mesa de debates da 6º Fliporto, a Festa Literária Internacional de Pernambuco, da qual foi um dos principais convidados em 2010. Usando como ponto de partida a trajetória de Witold Gombrowicz, escritor polonês radicado em Buenos Aires, criou uma formidável mise en abyme que conecta diferentes autores em torno de temas como dinheiro, linguagem e, claro, livros. Depois de uma sessão de autógrafos de seus livros publicados no Brasil, como Respiração artificial (1980), Dinheiro queimado (1997) e O último leitor (2005), o autor argentino conversou com o Portal Literal sobre o seu último romance, Blanco nocturno, uma trama policial no pampa argentino, que traz mais uma vez o seu alter ego recorrente, o jornalista Emilio Renzi. [NE. O romance foi publicado no Brasil como Alvo noturno em 2011 pela Companhia das Letras, assim como todos os títulos acima mencionados]
Blanco nocturno é ambientado no pampa. Qual a importância deste cenário para a literatura argentina? Ricardo Piglia. É uma grande tradição, que remonta ao século XIX. Mais tarde, na metade dos anos 1930, começou uma discussão envolvendo a literatura urbana e a rural. Existia a ideia de que a urbana era mais moderna, embora ainda se escrevesse diversas obras ambientadas no campo. Faço parte de uma geração que discutiu esse conflito, os novos problemas causados pela urbanização, os contrastes… Por mais arcaico que possa parecer, é um debate clássico na América Latina, sobre o que era o continente. Havia a selva, havia o campo e havia a cidade – estes eram os três temas literários. Escritores como Rodolfo Walsh e eu escrevíamos sobre a cidade, e em Blanco nocturno senti necessidade de voltar a esta discussão. Nunca vivi no campo, mas costumava passar o verão lá quando criança. O pampa foi uma presença muito forte na minha formação. Lembro-me da sua paisagem e, principalmente, da luz. No campo, a Revista Literal 127
intensa que se pierde en el no-espacio de la privación visual”. A que ponto a monotonia visual se reflete no imaginário de um escritor? A monotonia e a privação poderiam ser os temas do livro. O fotógrafo que tentar enquadrar este espaço terá dificuldades, pois há sempre algo que parece ficar fora do quadro. Muitas vezes, a melhor maneira de narrar o pampa é mostrar o efeito que ele produz. É como uma epifania.
maneira como a luz atua na paisagem é muito interessante. Parece estática, sem muitas modificações ou surpresas… Outra coisa que me interessava muito era a naturalidade com que a noite chegava, diferentemente da cidade, onde a luz nos impede que a vejamos. O ponto de partida do meu livro foi narrar a experiência de uma paisagem tão particular. Justamente, a questão do recorte e do olhar são essenciais no romance. Há, por exemplo, a personagem da fotógrafa, que tenta fazer um registro gráfico dessa paisagem ao mesmo tempo simplória e inalcançável, vasta e limitada… Em determinado momento, o senhor descreve o pampa como “un medio privilegiado para la fotografía por su distancia, su efecto de repliegue y su plenitud 128 Revista Literal
Em Blanco nocturno o senhor volta ao romance policial. Parece-me, no entanto, que o que lhe interessa no gênero não são os seus códigos ou fetiches, e sim a estrutura baseada em uma investigação… Interessa-me que o narrador não saiba tudo, que avance com o relato compreendendo aos poucos. A história se constrói a partir de testemunhos que vão permitindo também ao narrador decifrar a história, e avançar com ela. Vejo também uma certa marca da literatura de La Plata, com a tendência do narrador ser uma figura frágil. Os narradores de Borges e [do escritor uruguaio Juan Carlos] Onetti são débeis e estupefatos. Nunca sabem de tudo. É o contrário do que acontece com o narrador mais despótico de um García Márquez e outros escritores latino-americanos, que se impõe ao mundo, conhece esse mundo e o define. Numa investigação, a história vai se costurando a partir de diferentes testemunhos – ou seja, diferentes versões e olhares, que podem ser vistas como subnarrativas. É como um work in progress… Exato. A história está sempre se movendo. Parece que se cristaliza, mas escapa. Ela avança a medida que incorpora mais informação. O leitor também pode fazer a sua versão, já que a realidade nunca é clara.
O que é exatamente a “ficção paranóica”, termo que desenvolveu em seu curso de Princeton sobre literatura policial? É um tipo de romance policial que dialoga com questões contemporâneas, mas que também pode ser encontrado no passado. Todos os personagens se sentem ameaçados e investigam em situações de perigo. Sendo assim, nunca é uma investigação neutra, já que os próprios investigadores estão envolvidos. Outro elemento da “ficção paranóica” é a interpretação excessiva, que funciona como um código do gênero. Tudo parece ter um significado. E, por fim, podemos dizer que o gênero se desloca para a vítima. O romance policial começou focando nos detetives, como Sherlock Holmes; depois, passou a se interessar pelos assassinos; e agora me parece que a vítima se transformou o personagem mais interessante do gênero. Acredito que as melhores narrativas policiais são aquelas que se constroem a partir da vítima. Não seria um resquício ou um eco dos tempos da Ditadura Militar, quando a informação era uma questão de ameaça e a paranóia rondava a sociedade? Nunca havia pensado nisso, mas é uma interpretação possível. Em uma ditadura, o Estado é paranóico, há uma vigilância generalizada. É muito mais perturbador quando a paranóia chega ao poder. A diferença entre Leopoldo Galtieri e os ditadores brasileiros, que se mostravam sempre firmes, é que ele próprio parecia assustado e paranóico. Creio que isso se estendeu à sociedade. A forma do poder político atual trabalha muito com essa tensão e instabilidade. Li recentemente uma entrevista com o seu tradutor na França, François-Michel
Durazzo. Ele observa que muitos dos argentinos atribuem à sua obra uma consciência crítica em relação à Ditadura, mesmo que tenham lido seus livros muito mais tarde. O senhor concorda? Parece-me que sim. Mas não apenas no que diz respeito à temática – ou seja, não necessariamente a tematização da situação, mas como ela reflete na vida das pessoas. No meu caso, não se trata de falar sobre ditadores e fazer deles o centro da história, como é o caso da literatura clássica sul-americana, e sim de observar uma sociedade que está incluída nessa situação de repressão. São os efeitos da Ditadura que ficam em destaque.
O senhor leciona na Universidade de Princeton há mais de dez anos. Como os estrangeiros vêem a literatura argentina? Bem, ainda há muitos estereótipos. Rotula-se tudo que é mais complexo, como se não houvesse possibilidade de trabalhar a literatura sem essas simplificações. O problema em questão é esse primeiro olhar um tanto esquemático. O olhar estrangeiro é viciado em procurar sempre os mesmos aspectos. Mas o curso que leciono atualmente foge do contexto de leitura habitual, com temáticas sobre Borges menos visíveis na Argentina
Vargas Llosa também leciona, em Princeton, um curso sobre Borges e o realismo mágico. Tem contato com ele? Sim, encontrei-o um pouco antes dele receber o Prêmio Nobel. Ele foi convidado por um programa importante de estudos, que se ocupa da literatura latino-americana. O convite foi um marco do programa e ajudou muito a difundir a literatura latino-americana• Revista Literal 129
CRISTOVÃO Sem medo de errar TEZZA Um pouco antes de fazer o checkout e deixar o Rio rumo à Curitiba, Cristovão Tezza recebeu o Portal Literal em um quarto de hotel de Ipanema para falar sobre o seu novo livro. Desde o sucesso de seu trabalho anterior, o semi-autobiográfico O filho eterno (Record, 2007), o escritor catarinense radicado no Paraná não parou de viajar para palestras e lançamentos pelo Brasil e o exterior. Foi justamente no ambiente ascético dos inúmeros hotéis em que se hospedou mundo afora, que compôs a maior parte de Um erro emocional (Record, 2010), romance denso, marcado pelas brincadeiras formais e os devaneios metalinguísticos. Por Bolívar Torres Publicado originalmente em dezembro de 2010
A trama é simples: chegando à crise dos 40 anos, o consagrado escritor Paulo Donetti, personagem recorrente de Tezza, vai até o apartamento de Beatriz, leitora e admiradora de sua obra, por quem o autor está apaixonado. Donetti pede a Beatriz que opine sobre os manuscritos de seu novo livro, Uma mulher difícil. A situação banal é apenas o ponto de partida para que Tezza estabeleça uma espécie de canto a duas vozes, assombrado pelos labirintos da memória e do relato. De quebra, reflete sobre os limites do sentimentalismo e a relação de um escritor com o seu público. Como se vê, o sucesso repentino não mudou em nada o trabalho de Tezza. Seu novo livro não faz concessões. Mas, tudo que é difícil e desafiante no texto, só aumenta o prazer de sua leitura, como pode ser conferido na entrevista abaixo. A sucessão de prêmios conquistados com O filho eterno mudou a sua maneira de encarar a profissão? Cristovão Tezza. Graças a O filho eterno eu pude realizar um grande sonho, que era deixar 130 Revista Literal
minhas atividades como professor universitário e me dedicar apenas à literatura, ao ócio e a felicidade. Foi uma mudança radical para melhor. Não estava conseguindo conciliar a literatura com a vida acadêmica.
Um erro emocional foi escrito já nessas novas condições? Sim, mas de forma perturbada. Nos últimos anos, viajei demais, tinha muitos compromissos. Escrevi em momentos de descanso de uma viagem e outra. A produção não foi tão tranquila. E foi um livro estranho porque ele nasceu de um conto. Eu já estava escrevendo uma série de contos que deveria se chamar Beatriz e que já estava até vendida para a editora. E um desses contos tinha um mote só: “Cometi um erro emocional, me apaixonei por você”. Era para ter apenas oito ou dez páginas. Mas quando comecei a escrever aqueles contos anteriores sempre com a mesma personagem, percebi que tinha uma coisa bem mais ampla, que estava me preparando para algo maior. [NE. Beatriz, o livro de contos, foi publicado em 2011 pela Record]
Mas o reconhecimento influenciou de alguma forma a escrita do romance? Não. Eu já estou velho, não me deslumbro mais para isso aí… Já perdi muito prêmio na minha vida. Comecei a escrever lá no final dos anos 1970 e nunca ganhei nada. Digo que todos os prêmios que ganhei com O filho eterno foi para recuperar o tempo perdido. [risos] Para a minha geração, lá pelos anos 1980, prêmio não era notícia. Mudou a percepção. Hoje é acontecimento nacional. O resultado de qualquer prêmio sai nos cadernos culturais, nos blogs… E se discute se o vencedor deveria ter ganhado ou não. “Chico, devolva o Jabuti!” Exatamente. [risos] Naquele tempo não era nada, ninguém dava bola se tinha ganho ou não.
Mas é interessante perguntar se os prêmios influenciaram a escrita do romance, já que o protagonista de O filho eterno era um escritor desiludido com a profissão, que representava, de alguma maneira, a dificuldade de viver da escrita para uma geração. O Donetti de Um erro emocional, por outro lado, é um autor consagrado, premiado… Foi uma coincidência? O Paulo Donetti de Um erro emocional é uma espécie de persona de escritor que eu venho trabalhando desde um livro chamado Ensaio da paixão, lá dos anos 1970. Nesse livro ele se chamava Antonio Donetti. Brinco que era parente. Um tio, talvez [risos]. Naquele momento, eu já estava trabalhando a ideia de um persona do escritor brasileiro, que é uma espécie de sujeito sem lugar. Ele fica no meio do caminho entre a imagem do beletrismo tradicional da literatura brasileira e a de um porta-voz de uma mudança, de um ativismo intelectual… tudo isso somado a uma certa relevância histórica, já que a literatura brasileira é irrelevante até mesmo no Brasil, basta ver a lista de best-sellers. Essa figura me intriga: tenho vários escritores que são personagens do livro, não como alter ego, mas como Revista Literal 131
representações de autores. É um personagem um pouco Frankenstein, serve um pouco para tudo. Começando pelo fato de ser mulato, o que o coloca dentro de uma tradição de autores que vai de Machado a Lima Barreto e dá a ele fissuras raciais, culturais e sociais… E o que o deixa ainda mais fora de lugar… Sim. E também de estar em um momento contemporâneo, de ganhar prêmios. No mais, é um personagem cristoviano, típica figura urbana dos meus livros.
A metalinguagem ocupa um lugar importante em Um erro emocional. Tudo parece ter uma dupla interpretação: a trama em si, que traz um romance banal entre um escritor e sua leitora; e também uma outra camada que é a reflexão sobre o próprio ato de escrever e a relação de um escritor com os seus leitores. Você tinha consciência de todas essas camadas ao escrever o livro? Não no sentido de fazer um mapa de todas as vozes presentes. Sou um escritor muito intuitivo mas tenho anos de experiência. Quando você coloca uma frase, ela já vem com o peso de uma experiência. É como se a minha linguagem soubesse mais do que eu naquele momento. O livro nasceu como um conto que tinha apenas uma frase como mote. No momento em que fui trabalhando, voltei depois todo aquele primeiro parágrafo e criei Doralice, a amiga a quem Beatriz se imagina contando a história. Foi uma das últimas coisas que escrevi, porque senti a necessidade de uma interlocução dela para criar o eixo narrativo. Doralice funciona um pouco como o paralelo do analista ao qual Donetti está sempre se referindo. São pequenos toques que você não pensa objetivamente, mas que enriquecem e tornam o livro mais complexo. É interessante você mencionar isto, porque um dos aspectos que mais chamam a 132 Revista Literal
atenção é justamente essa necessidade que os personagens têm de criar relatos dentro do relato, criar narrativas dentro da narrativa, multiplicar os pontos de vista… A questão de contar, de interpretar a realidade, é muito importante nesse livro. Exatamente. A noção de realidade dentro da literatura me fascina. Por isso que sou um escritor “realista” [aspas de Tezza]. Acho uma bobagem quem diz que o realismo é coisa do século XIX. Quem diz isso não entende nada de literatura e de representação. Tem que saber de que realismo estamos falando. Realismo é um saco sem fundo. Na verdade, o realismo muda segundo escritor. Há um realismo de Balzac, um realismo de Flaubert, um realismo de Machado… Cada época tem o seu modo de representação e cada autor abre caminhos e modos de percepção para a realidade. A apreensão do tempo presente é uma das coisas que me fascinam. A noção do tempo e da representação da realidade. E me fascina ficcionalmente, o que significa entrar nesse universo, não de uma maneira objetiva mecânica ou metódica, mas como a expressão da constituição de um ponto de vista. Minha literatura se faz nesse terreno difuso. Você afirmou em várias entrevistas que o título do livro é irônico. Mas a ironia que eu sinto não vem apenas da trama em si, nem de como os personagens se sentem em relação aos seu envolvimento emocional, mas também da sua própria proposta como escritor. Você assume um estilo por vezes excessivamente emocional, que alguns poderiam acusar de sentimentalismo barato ou até de cafona e lugar-comum. Mas assume de forma consciente e voluntária, abraça os clichês, flerta com eles, como se estivesse se perguntando: e por que não? É mesmo um erro escrever assim? Nesse
caso, o tal “erro emocional” seria também um possível “erro” como escritor? O primeiro aspecto do livro era uma ironia com a ideia de você se apaixonar e isso ser um erro, como um quadro repressivo. Mas depois a coisa foi se desdobrando porque o tema também é muito difícil. Com O filho eterno aprendi, de fato, a quebrar temas sensíveis, escrever sobre a relação de um pai com um filho especial e fazer disso boa literatura. Ora apaixonar-se é um dos fatos mais universais da vida cotidiana, e eu não sei por que isto não entraria na literatura. Histórias de amor são perpetuamente requentadas e é um temas que me interessa. As relações entre as pessoas é um campo temático que está em tudo que eu escrevi na minha vida. Eu quis mergulhar numa relação de paixão e o resto vem num processo intuitivo. Eu realmente não tenho o controle total do que eu escrevo. Não tenho como pegar uma régua e dizer vou escrever isso, escrever aquilo. A linguagem sabe mais do que eu. O curioso é que os próprios personagens parecem ter consciência de que podem estar participando de uma relação clichê. E, tentando relatar o que vivem, encaram com ironia o risco de cair no lugar-comum. Repetem em tom de paródia termos como “o homem da minha vida”! O lugar-comum é o ponto de partida romanesco muito forte. Tem aquela célebre frase do Paul Valéry, de que nunca poderia escrever um romance por ser incapaz de escrever frases como “A condessa vai tomar chá às cinco horas”. É exatamente isso a fronteira entre a poesia e a prosa. A prosa precisa dessa frase vulgar. O lugar comum é a matéria-prima do discurso romanesco. Um dos traços essenciais do romance é esse uso da linguagem comum. A consciência do lugar-comum está permanentemente tanto na cabeça do Donetti quanto de Beatriz. E todas as repetições são irônicas. Em determinado momento ela diz “Agora teremos
um beijo cinematográfico” – e claro que isso é um comentário sobre ela se sentir de repente personagem de uma imagem publicitária… É sempre o comentário sobre o clichê que vai se introduzindo em situações complexas, difusas e transcendentes.
No fim, não é somente o autor que pode ser visto como um escritor-crítico, mas também os seus próprios personagens (não por acaso, um escritor e um leitor) que mostram um olhar crítico à situação em que você os coloca. O desejo que sentem em abandonar o senso crítico e se entregar à paixão está inevitavelmente ligado à sua decisão em colocá-los no papel. A impressão que fica, porém, é que, ao reproduzir clichês, você e eles podem não estar cometendo o tal “erro” do título. De maneira nenhuma. Uma narrativa em estrutura de prosa não é jamais uma mistura de frases avulsas. Você tem uma arquitetura formal, a instituição de um ponto de vista que organiza o modo que dá determinado sentido àquilo que é falado. Todo lugar-comum que há no livro é comentado criticamente por duas ou três vozes sobrepostas. É impressionante, aliás, como o livro parece às vezes “um canto a duas vozes”. Há uma escrutinação constante: todo romance é baseado nessa necessidade de analisar um ao outro, que é algo muito comum quando duas pessoas estão apaixonadas. Muita gente falou por aí que o livro tinha fluidez e que era fácil de ler, mas achei justamente o contrário: justamente por esse entrelaçamento de vozes e camadas, a sintaxe é truncada, o significado é difuso, as frases longas e labirínticas, repletas de parênteses… Em algum momento, você pensou que poderia estar dificultando demais a leitura para o seu público, que desde O filho eterno está muito mais amplo?
Revista Literal 133
Olha, posso dizer que nunca pensei no leitor durante a escrita de nenhum livro meu. E isso é rigorosamente verdadeiro. O leitor sou sempre eu. O filho eterno me abriu tecnicamente a questão do narrador. Aquele pai que se aproxima e se afasta o tempo todo ficou extremamente complexo. A linguagem foi um exercício de invasão de intimidade. E, em Um erro emocional, essas frases longas foram acontecendo como uma representação da consciência. Não foi estudado. Eu simplesmente fui sentido que havia ali uma voz minha, e que estava se enriquecendo como expressão sintática. Mas logo percebi que não é um livro de fácil leitura. Até pode ser lido direto, mas a ideia não é essa. É uma viagem lenta… O leitor pode se perder a vontade. Eu, por exemplo, tive que voltar várias vezes. O que, de certa forma, é até agradável numa narrativa… Eu tomei o cuidado sempre de não me perder como narrador. Eu sei exatamente aonde a narrativa vai, os saltos que dá, e deixei sinais sintáticos claros na passagem de um personagem para o outro. Mas eu sei que, se a pessoa ler direto, vai se perguntar mesmo: “Opa, quem está falando aqui?” Mas se voltar, pode perceber que há sempre passagens sutis. Essa passagem de uma cabeça para a outra me deu muito prazer de escrever, porque eu senti que era uma coisa nova para mim como escritor, a descoberta de uma maneira de trabalhar a sutileza e se deixar levar, se soltar… Agora, eu começo a me entusiasmar falando do meu próprio trabalho, e daí o escritor é como o mordomo: o suspeito número um da história. Acho muito habilidosa a maneira como você cria deixas entre cada capítulo. Sempre há um caco que acaba ligando as diferentes passagens. Como eu falei antes: é um canto a duas vozes, parece que um deixa espaço 134 Revista Literal
para o outro entrar. E há todo um cuidado em compor uma harmonia final entre as vozes. Quando eu acabei o livro ele era um bloco só, não tinha quebra em capítulos. Era um texto ininterrupto do começo ao fim. E eu fui reler e vi que estava muito pesado. Não no sentido produtivo – porque às vezes você pode fazer uma coisa pesada para sufocar o leitor, e a ideia é essa. Mas aqui não era o caso. Senti mesmo que o livro precisava dar uma respirada. E aí fui cortando. Tem até um capítulo que corta exatamente no meio de uma frase, com um travessão. E não é simplesmente um truque formal. Era uma questão mesmo de respirar. Cada capítulo é uma respiração. O livro tem momentos, quadros, que vão se sucedendo. Foi um elemento composicional que surgiu por último – na penúltima revisão, na verdade.
Você disse anteriormente que prefere evitar uma escrita mecânica ou metódica, o que é um grande perigo quando se fala em escritorcrítico. Mesmo assim, acredito que o romance possa ser visto como um work in progress. Assim como o seu Paulo Donetti, você chegou a temer compor uma tese muito mais do que uma ficção? Às vezes, sim, pelos muitos anos de universidade. Quando fiz doutorado, parei completamente de escrever ficção, de propósito, para não misturar os discursos e registros. Mas não foi o caso aqui. Eu mergulhei na relação entre os dois e fiz um livro muito intuitivo, talvez o mais intuitivo que escrevi, na medida que foi se ampliando, se abrindo em leques. Até certo momento, não sabia aonde ia chegar com o livro. Na verdade, trata-se de um falso livro realista. Ele oferece uma ilusão de realidade muito grande, mas obviamente nenhuma cabeça funciona com tal organização de fragmentos. É uma composição literária da primeira à última linha•
Reprodução
Revista Literal 135
Memória em cacos: conversa com Michel Laub Trabalhando o relato memorialístico e a literatura de testemunho, Laub se volta para as suas raízes culturais oscilando entre a reconciliação e o acerto de contas. Por Bolívar Torres Publicado originalmente em abril de 2011
Embaralhar dados biográficos e ficção é um procedimento recorrente na obra do gaúcho Michel Laub. Mas, curiosamente, foi preciso esperar o seu quinto romance, Diário da queda (Companhia das Letras, 2011), para que o escritor abordasse pela primeira vez as suas origens judaicas. Trabalhando o relato memorialístico e a literatura de testemunho, Laub se volta para as suas raízes culturais oscilando entre a reconciliação e o acerto de contas. Não há exatamente ponto de origem ou chegada em Diário da queda, livro escrito em estrutura circular, que remói e revisita incansavelmente os mesmos traumas. Para o narrador, tudo começa quando ele e seus amigos ferem gravemente João – um gói agredido e discriminado por seus colegas de colégio. Mas o histórico de violências vai além: remonta ao campo de concentração de onde fugiu o avô do narrador, e que traumatizou mais de uma geração. Em pequenos blocos narrativos, Laub liga passado e presente, herança e livre arbítrio, em um constante processo de associação. Nesse Bildungsroman moderno, o desafio do narrador é o mesmo desafio do nosso século recém-nascido – e já traumatizado com os massa136 Revista Literal
cres e horrores humanitários do passado. Diário da queda transforma a violência em um ciclo com o qual não se pode romper sem sofrimento e força de vontade. Como explica Michel Laub na entrevista abaixo, o seu aparente determinismo é tão falso e enganador quanto os dados biográficos que espalha pelo caminho.
A primeira palavra que vem à cabeça ao ler Diário da queda é “transmissão”. Não apenas uma transmissão de pai para filho, familiar ou de geração, mas uma ideia de que cada um de nossos gestos se reflete na vida dos outros, de que a vida e a trajetória de cada pessoa está inevitavelmente interligada. Michel Laub. Sim. E isso tem a ver com a questão do livre-arbítrio, sobre a qual sempre trato, de uma forma ou de outra, nos meus livros. Ou seja, a relação entre o que você faz e as justificativas para esses atos. A herança que é transmitida e que determinaria, ou não, o seu caráter e a sua conduta. Isso olhando para trás (no caso, um filho olhando para o pai). Mas é o mesmo quando o personagem olha para a frente (como o filho dele, ou a mulher, ou o amigo etc. serão afetados por tudo isso).
Reprodução
O livro é assombrado por uma agressividade contida, pronta para explodir. A narrativa faz uso de palavras aparentemente comuns, mas que, assim como os personagens, escondem sua brutalidade, sua necessidade de catarse. Que lugar ocupa a violência dentro dessa rede complexa que é a transmissão? Tem a violência das histórias e a violência verbal, da prosa. No primeiro caso, ao menos no Diário da queda, toda questão da transmissão se dá por meio da violência: o bullying, a briga do pai e do filho, o cara que dá porrada na mulher, Auschwitz etc. Não é por acaso que isso está ali, tem uma relação entre as coisas, e em algum momento da escrita achei interessante que o personagem percebesse isso, que visse uma equivalência entre um bilhete escrito ofendendo o melhor amigo e uma temporada de alguém em Auschwitz. Claro que na vida real não é a mesma coisa, mas não é para um adulto que sabe a importância histórica de Auschwitz e tal. Para uma criança é diferente. Ela acha que o colega enterrado na areia é o auge da violência que pode existir. Esse ponto de vista subjetivo é que acaba sendo mais interessante na ficção.
Quanto à violência da linguagem, é uma forma de fazer uma frase ficar o mais forte possível, o mais “chocante”, digamos, no bom sentido. Acho que isso funciona muito num discurso mais oralizado e sujo, sem muito rococó nas frases. Um cara que era mestre nisso era o Faulkner. Em relação ao trauma de Auschwitz, há uma esquizofrenia muito bem representada na figura do avô, indeciso entre a necessidade de lembrar (para que não se repita) e a vontade de esquecer – ou, pelo menos, de não falar, de deixar para trás, seguir em frente. Judeus ou não, sobreviventes do holocausto ou não, todos os personagens sofrem com isso, inclusive João quando chega em sua nova escola e tenta começar uma nova vida. Nesse sentido, podemos dizer que o ponto central do livro não é exatamente a memória, mas como lidar com ela, como se equilibrar nessa dicotomia lembrar/esquecer? Sim. Daí a contraposição entre a necessidade de esquecer, que tem a ver com o avô e Auschwitz, em certo aspecto, e a de lembrar, que tem a ver com o pai e o Alzheimer. Mas as coiRevista Literal 137
sas se confundem em vários momentos, e também surge a necessidade de lembrar de Auschwitz (uma necessidade histórica, digamos) e a de esquecer o Alzheimer (de ir em frente, ao menos, no caso de um filho que sabe que o pai vai morrer assim). Novamente é a questão do livre-arbítrio: existe a herança toda, que pode ser a mais dura possível, mas cada um pode decidir o que fazer a partir disso. A cineasta belga Chantal Akerman, que é filha de uma sobrevivente do holocausto, disse uma vez que os filhos de sobreviventes nunca são crianças como as outras. Ela lembra que a mãe, assim como o personagem do avô, se recusava a falar sobre o tema. A própria obra da Akerman fala da ferida de forma oblíqua, nunca direta – de certa forma, você faz o mesmo em o Diário da queda. Aliás, assim como outros artistas e pensadores que se debruçaram no tema, neste livro você se mostra sensível a questão da representação. 138 Revista Literal
Em determinadas passagens, o narrador se pergunta como pode falar sobre isso. Como representar o horror? Como nomeá-lo? É comum em relação ao judaísmo, por exemplo, pais religiosos terem filhos que não seguem a religião, e vice-versa. Em relação à memória dos campos de concentração talvez exista um paralelo com isso. A rebeldia natural de um filho em relação a um pai tem a ver com aquilo que o pai é, e se o pai passa o tempo inteiro falando de campos de concentração, como o pai do livro, é natural que o filho se revolte contra isso. Mas claro que essa não é uma relação comum, não é como você ter vergonha que seu pai busque você numa festa aos 14 anos. Ter vergonha ou revolta em relação a Auschwitz é outra história, e obviamente é isso que pode ser mais interessante nesse personagem. Quanto à representação, é um problema que eu tive desde que comecei a escrever o livro. Aliás, foi o principal problema de todos, que me fez quase jogar o livro fora várias vezes: por que escrever sobre um tema como Auschwitz? Eu queria fazer um livro mais leve que os anteriores, acredite, e quando vi estava escrevendo sobre Auschwitz. Isso me travou muitas vezes, tipo: o que eu tenho a dizer sobre isso que já não foi dito por tanta gente melhor e tal… A solução, se é que dá para chamar assim, foi trazer o problema para dentro do livro. Aquela coisa do personagem ficar dizendo que não quer falar de Auschwitz, exatamente, e sim de outra coisa. Que é o que, bem ou mal, ele faz no fim. Daí ele citar tanto o É isto um homem? (1947), do Primo Levi, que funciona ali como um símbolo de todos os livros, filmes, debates etc. que já foram feitos sobre o tema.
Nesse sentido, a figura do avô é fascinante. Funciona como uma presença fantasmagórica, uma sombra, a lembrança direta daquilo que o narrador não quer falar, e que atravessa todo o romance mesmo sem estar nele… Acaba, de fato, funcionando assim. Mas, como quase tudo num livro de ficção, é algo que você só vai perceber depois de ter escrito uns dois terços da coisa. Aí, claro, você dá uma ajeitadinha para que isso fique mais evidente.
Em seu blog, Sérgio Rodrigues definiu o personagem do avô como “Pangloss autista”. O que acha da comparação? É isso mesmo, uma definição precisa. Essa história de “como o mundo deveria ser” é algo de que sempre gostei – imaginar livros ideais, filmes que deveriam ser feitos etc. Tenho uma ideia antiga, inclusive, de fazer uma publicação sobre isso. No meu blog até andei publicando uma série a respeito. É uma coisa que pode ter um lado divertido, como seria no caso de uma publicação leve e tal, mas também um lado sombrio. Toda ideologia que tinha como meta o “homem ideal” ou “o novo homem” acabou se revelando monstruosa, casos do nazismo e do comunismo, respectivamente. Esse lado sombrio, que também tem algo de cômico, eu tentei botar no personagem do avô.
O litoral gaúcho e suas praias desertas fora da estação aparecem mais uma vez na sua obra como um lugar de solidão, meditação, busca de autoconhecimento. O que representa esse espaço geográfico para você? Um pouco é uma brincadeira com a história da autobiografia. Isso aparece no Longe da água (Companhia das Letras, 2004) no Segundo tempo (Companhia das Letras, 2006) e no Diário da queda, e em cada uma dessas vezes o personagem tem uma história diferente (numa os pais estão se separando, na outra não estão, na outra ele é judeu etc. etc.). Então, é para mostrar que é autobiográfico e ao mesmo tempo não é. O cenário do litoral gaúcho em si é muito interessante e rende muito na ficção, por diversas razões. É (ou era) um lugar melancólico, meio perdido no tempo, onde por dois meses ao ano a vida era completamente diferente da que se tinha em Porto Alegre. Não sei como mais gente não escreve a respeito. Diário da queda parece, em muitos momentos, um livro francamente autobiográfico. A narrativa soa como autoficção, pela estrutura e conceito. Por que essa necessidade de embaralhar sua vida pessoal com a ficção, deixar pistas falsas pelo caminho? Posso responder de muitas maneiras. Uma delas, talvez a mais antipática, é dizer que é mé-
rito do livro fazer com que o leitor acredite no que está escrito. Mas não é só isso, claro. Tem a questão da primeira pessoa, que é meio misteriosa, porque é sempre mais fácil o leitor acreditar em alguém que está narrando como se fosse parte da história, e também as brincadeirinhas que ponho ali para confundir mesmo, tipo inserir dados biográficos e tal. A necessidade talvez seja uma defesa, para exacerbar a questão e quem sabe relativizá-la. Porque nem sempre esses confrontos com pessoas reais, que acham que você está falando sobre elas no fundo, são muito agradáveis. A estrutura do livro constrói um complexo labirinto confessional, com eventos apresentados de forma aleatória e nãolinear. Os bloquinhos narrativos são como peças espalhadas de um quebra-cabeças. Foi difícil pensar essa estrutura? Não pensei nela antes. Os bloquinhos serviram para eu escrever de maneira mais solta que nos livros anteriores. Isso porque este livro pedia uns trechos mais ensaísticos e digressivos. Depois é que fui juntando, quase sempre, e por vezes abria parágrafos novos onde estava faltando alguma coisa. Nesse sentido, foi até bem fácil de fazer. O difícil foi dar a forma final a várias das transições de tempo, lugar e personagem. Ou seja, não tornar essas transições muito esquemáticas, o equivalente (menos caricatural, óbvio) a recursos do tipo “por outro lado”, “falando no assunto”, etc. Nem sempre foi possível, mas no geral acho que mantive uma certa fluidez entre os blocos. Você falou anteriormente em livre arbítrio: o livro não deixa de ter um discurso otimista em relação ao futuro. Pessoalmente, como você vê as próximas gerações? Acha que é possível romper com esse ciclo de violência, a herança do holocausto e das barbáries do século XX? Não sou otimista, nem pessimista. O mundo é o que sempre foi e será, e cada um faz o que quiser a partir dessa herança. É sobre isso que o personagem fala, no fim• Revista Literal 139
LUIS FERNANDO Carta para VERISSIMO Luis Fernando Verissimo completou 76 anos de vida no dia 26 de setembro. Para homenagear um dos mais populares autores brasileiros, convidamos um escritor à altura para lhe escrever uma carta de aniversário. De discípulo para mestre, de editor para autor, de amigo para amigo: Arthur Dapieve escreveu uma espécie de carta-inventário, relembrando o encontro, a relação com Verissimo, antes, durante e depois da produção do livro Conversas sobre o tempo (Agir, 2010). Um emocionante depoimento de um escritor que compartilha o privilégio de conviver com o escritor, jornalista, humorista e cronista. Por Arthur Dapieve Publicado originalmente em setembro de 2012
Caro Verissimo, Parabéns, mestre, feliz aniversário. Onde quer que você esteja falando sobre literatura neste momento, entre Lisboa e Belém (do Pará), tenha um excelente dia, comemore com a Lúcia e um bom vinho. Vocês merecem. Daqui do Rio, penso que minha relação contigo é um foguete de estágios às avessas, no qual os estágios não são descartados, mas agregados, um após o outro, impulsionando-me ao infinito ao além. O primeiro estágio foi o do leitor. Muito antes de pensar em ser jornalista, antes até de pensar em trabalhar com comunicação, eu já lia os seus textos, onde quer que eles aparecessem, jornal, revista ou livro, com imenso e renovado prazer. São textos que nos emprestam – sem pedir de volta – amostras de sua inteligência e seu senso de humor. Na minha cabeça, isso começou não muito depois do tempo em que eu filava o Pasquim 140 Revista Literal
do meu pai, que corria à banca para comprá-lo. Nunca se sabia se a ditadura iria implicar com essa ou aquela edição e retirá-la de circulação. O seu humor, porém, era diferente do humor de meus conterrâneos cariocas. Onde o deles era cáustico ou escrachado, às vezes até descambando para o escatológico, o seu era sutil, contido, cheio de referências cultas, gaúcho meio inglês. Não me entenda mal: eu adoro o estilo do Pasquim, não seria quem sou sem o jornal, mas me identifico com o teu. Desculpe te tutear, aqui, em público, mas tu sabes: intimidade de leitor é fogo. Mesmo para um guri, porém, o humor logo se revelou apenas uma das camadas dos seus escritos. Neles há uma reflexão cortante não só sobre os costumes, eternamente castigados pelo riso, mas também sobre a condição humana. Era como se, vejo agora, o Albert Camus tivesse se tornado membro do Monty Python. Eu vibrava com isso. Não atrapalhava em nada a admiração o fato de você também ter simpa-
Nos seus escritos há uma reflexão cortante não só sobre os costumes, eternamente castigados pelo riso, mas também sobre a condição humana. Era como se, vejo agora, o Albert Camus tivesse se tornado membro do Monty Python.
tias pelo Botafogo, ressalvada, claro, sua paixão primeira pelo Internacional. Aliás, lembro-me de um velho texto seu sobre o Colorado, acho que numa revista masculina, texto que abria com uma frase genial: “Vocês só me chamam de paranoico porque estão todos contra mim”. O segundo estágio da nossa relação foi o de colega. Depois de alguns anos batalhando na planície das redações, como repórter e editor, também tornei-me cronista, ou, como prefiro dizer, colunista. Colunista que muito de vez em quando emplaca uma crônica, esse tipo de texto que nasce do tempo para superá-lo. Nada que chegue aos pés dos seus, mas que ainda assim me proporciona o orgulho de ser seu colega. Em determinados momentos, diante da hesitação sobre se dizer, o que dizer e como dizer, penso noutra frase sua, como se fosse um lema, e vou em frente: “Sou pago para ter opinião”. Você nunca fugiu desta obrigação, ainda que às vezes ela lhe colocasse solitariamente contra a corrente, ou nas suas palavras, “o pensamento único”. Primeiramente, escrevíamos em jornais distintos, depois no mesmo O Globo. Creio que foi mais ou menos nessa época que nos conhecemos pessoalmente, na casa de nossa amiga e agente comum, a Lúcia Riff. Ou terá sido na primeira Flip, dez anos atrás? Não tenho certeza, mas sei que a Lúcia estava junto. Conheci não só a ti, mas a toda a família Verissimo, a tua fantástica Lúcia e teus talentosos filhos, Fernanda, Pedro e Mariana. Mais tarde, conheci até sua neta, a famosa Lucinda, e o pai dela, o Andrew. Alguns anos depois, tive o oportu-
nidade de presenciar e pontuar longos papos entre você e outro de meus gurus, o Zuenir Ventura, meu primeiro editor, no JB, em meados dos anos 1980. Esses papos foram publicados no livro Conversas sobre o tempo, da Agir. Graças a ele fizemos pelo Brasil um punhado de debates juntos. Os três. Como colegas. Aí, quando eu achava que esse foguete não tinha como ir além disso, eis que o desafio e a curiosidade de trabalhar numa área inédita para mim fizeram-me aceitar um convite do Roberto Feith. Tornei-me editor de teus livros, na Objetiva. Imagina, ser pago para te ler... Está saindo agora em outubro o primeiro fruto desse novo estágio da minha relação contigo, Diálogos impossíveis, seleção de crônicas suas sobre o absurdo da existência, ou melhor, da coexistência. Desculpe se falar disso soa como um intervalo comercial em meio a votos de feliz aniversário, mas estou contente com essa parceria. No processo de edição, como leitor privilegiado, voltei maravilhado ao ponto de partida: quem consegue escrever tanto, tão regularmente e com tamanha qualidade? Você. Portanto, como leitor, colega e editor, eu te desejo feliz aniversário de 76 anos, mestre. Saúde, paz, longos solos de sax, ainda mais sucesso e gols do Leandro Damião. Muito obrigado por todos os bons momentos. Que venham muitos outros•
Grande abraço, Arthur Dapieve
Revista Literal 141
Reprodução
142 Revista Literal
Revista Literal 143
144 Revista Literal
Revista Literal 145
PatrocĂnio