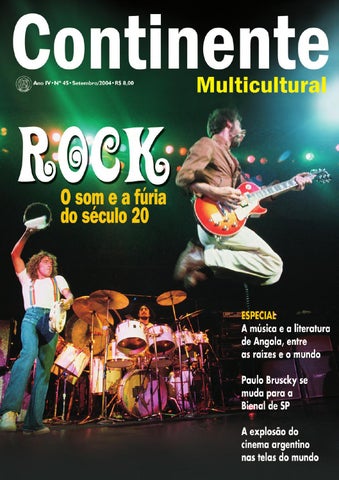Reprodução
EDITORIAL
A banda The Who, no ínicio dos anos 60, autora do hit My Generation que traz o lema: “Espero morrer antes de ficar velho”
No balanço das eras
H
á 50 anos nascia um ritmo que, mais que uma manifestação musical, iria se tornar emblema de uma revolução comportamental: o rock. Derivado da música negra tradicional norteamericana, logo foi assimilado por adolescentes de todo o mundo tornando-se um fenômeno de massa. Vários fatores contribuíram para a rápida disseminação do rock – além do natural apelo de uma música de pulsação hipnótica e visceral –, mas dois foram fundamentais: o fortalecimento econômico crescente dos Estados Unidos perante uma Europa convalescente da Segunda Grande Guerra e a descoberta dos jovens como potencial mercado de consumo. O fato é que o rock atropelou as previsões de que seria uma mera moda passageira e adaptou-se camaleonicamente aos tempos que iam passando e às tendências que iam surgindo, firmando-se como um acontecimento cultural impossível de ser ignorado. Marcado por ídolos carismáticos e mortes prematuras e trágicas, chega à meiaidade continuando a dividir opiniões.
Para uns, sua época de ouro passou, sobrevivendo apenas em guetos dominados, na maioria das vezes, por cantores veteranos e já sexagenários, sendo suplantado por manifestações contemporâneas como a música bate-estaca dos DJs. Para outros, essa mesma música eletrônica reflete mais uma manifestação do rock, que teria se espalhado e diluído por diversos outros ritmos, incluindo a sacrossanta MPB. A Continente traça a história do rock e dá ao leitor subsídios para escolher sua própria definição. Uma coisa que orgulha a equipe da Revista é o espaço que temos dado ao continente africano, uma das matrizes de nossa formação, tão ignorada quanto desprezada. África foi tema da edição número 4 da Continente Documento, de entrevista com Alberto Costa e Silva, de reportagens sobre os agudás do Benin (ex-escravos retornados do Brasil), da música de Cabo Verde, da literatura de Moçambique, de artigo do escritor Mia Couto. Nesta edição, continuamos essa aproximação com uma panorâmica da literatura, entrevista com o escritor José Eduardo Agualusa e música de Angola. Desfrutem. •
Continente setembro 2004
1
2
CONTEÚDO Universal Music/Divulgação
08
Leo Caldas/Divulgação
O ateliê-obra-de-arte do pernambucano Paulo Bruscky
Jimi Hendrix: auge do rock
38
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
CAPA
ESPECIAL
08 Rock `n` Roll como uma marca do século 20
56 A poesia, o romance, o jornalismo e a música de Angola
LITERATURA 20 Escritora portuguesa aborda encruzilhadas existenciais
CINEMA
Livros revisitam obra de Osman Lins O amargo amanhecer de um apaixonado O instigante e ignorado Geraldo de Holanda Cavalcanti
66 A explosão da nova filmografia argentina
CONVERSA 32 Americano analisa papel das Forças Armadas
A volta em dose dupla de Lírio Ferreira
HISTÓRIA 76 A morte do mais brilhante general de Hitler Uma escrava de 18 anos, bonita e educada
brasileiras
ARTES 38 Paulo Bruscky leva ateliê inteiro para a Bienal de São Paulo
TRADIÇÕES 82 Quem foi esse Chico Antônio tão homenageado?
AGENDA 88 Artes plásticas, artes cênicas, música, cinema,
MÚSICA 43 Paco de Lucía e a rubra paixão pelo flamenco Paulo Moura quer tocar todos os sons
Continente setembro 2004
literatura Acesse nosso endereço eletrônico: www.continentemulticultural.com.br
CONTEÚDO
3
Regivaldo Freitas/Divulgação/FMI
Gilvan Barreto/Lumiar/Divulgação
46 A música sem fronteiras de Paulo Moura
70
Cena de Árido Movie, novo filme de Lírio Ferreira
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Colunas
CONTRAPONTO|Carlos Alberto Fernandes 07 Mundo globalizado exige educação com qualidade
MARCO ZERO|Alberto da Cunha Melo 30 O abandono de Chico Soares, o Canhoto da Paraíba
TRADUZIR-SE|Ferreira Gullar 36 Não é verdade que a arte efêmera esteja fora do mercado
SABORES PERNAMBUCANOS|Mª Lecticia Monteiro Cavalcanti 52 Vinagre: perfume, remédio, bebida, tempero
DIÁRIO DE UMA VÍBORA|Joel Silveira 55 Sergipano não toma banho de mar, toma banho de Oceano!
ENTREMEZ|Ronaldo Correia de Brito 86 A prática da medicina está cada dia mais burocratizada
ÚLTIMAS PALAVRAS|Rivaldo Paiva 96 Para maria-vai-com-as-outras, os espinhos de judas
Continente setembro 2004
4
CRÉDITOS Companhia Editora de Pernambuco – CEPE Presidente Marcelo Maciel Diretor de Gestão Altino Cadena
Setembro Ano 04 | 2004
Diretor Industrial Rui Loepert
Capa: Pete Townshend, líder do The Who, pula no placo, em San Francisco, Califórnia, 1976.
Continente
Foto: Neal Preston/Corbis
Multicultural
Conselho Editorial: Presidente: Marcelo Maciel Conselheiros: César Leal, Edson Nery da Fonseca, Francisco Bandeira de Mello, Francisco Brennand, Joaquim de Arruda Falcão, José Paulo Cavalcanti Filho, Leonardo Dantas Silva, Manuel Correia de Andrade, Marcos Vinicios Vilaça, Marcus Accioly Diretor Geral Carlos Fernandes Editores Homero Fonseca e Marco Polo Assistentes de Edição Isabelle Câmara e Mariana Oliveira Editor de Arte Luiz Arrais Diagramação Gilvan Felisberto Ilustrações Zenival Edição de Imagens Nélio Chiappetta Revisão Maria Helena Pôrto Secretária Tereza Veras Gerente da Gráfica e Editora Samuel Mudo Gestor Comercial Alexandre Monteiro Equipe de Produção: Ana Cláudia Alencar, Daniel Sigal, Elizabete Correia, Emmanuel Larré, Eliseu Barbosa, Geraldo Sant’Ana, Joselma Firmino, Júlio Gonçalves, Lígia Régis, Michelle Vanessa, Roberto Bandeira e Sílvio Mafra Continente Multicultural é uma publicação mensal da Companhia Editora de Pernambuco Circulação, assinaturas, redação, publicidade, administração e correspondência: Rua Coelho Leite, 530 – Santo Amaro – Recife/PE – CEP: 50100–140 de 2ª a 6ª das 8h às 17h30 – Fone: 0800 81 1201 – Ligação gratuita Assinaturas: 3217–2524; assinaturas@continentemulticultural.com.br Redação: 3217.2533; fax: 3222.4130; redacao@continentemulticultural.com.br Diretor: diretor@continentemulticultural.com.br Webmaster: webmaster@continentemulticultural.com.br Tiragem: 10.000 Impressão: CEPE Todos os direitos reservados. Copyright © 2000 Companhia Editora de Pernambuco ISSN 1518-5095 Apoio: Governo do Estado de Pernambuco Os textos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem, necessariamente, a opinião da revista.
Colaboradores desta edição: ALEXANDRE FIGUEIRÔA é jornalista, crítico de cinema, mestre em Cinema pela ECA-USP, doutor em Estudos Cinematográficos pela Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. ANTÔNIO JR. é jornalista, escritor e viajante. DANIEL PIZA é jornalista, editor executivo de O Estado de S. Paulo, autor, entre outros, de Jornalismo Cultural e Questão de Gosto – Ensaios e Resenhas. EDUARDO GRAÇA é jornalista, foi repórter do Jornal do Brasil e O Dia e colaborador de O Estado de S. Paulo e Valor Econômico. Desde julho vive e trabalha em Nova York. EVALDO COSTA é jornalista e trabalhou em Angola. EVERARDO NORÕES é poeta e escritor. FERNANDO MONTEIRO é escritor, autor de A Cabeça no Fundo do Entulho e Armada América, entre outros, e cineasta. INÁCIO FRANÇA é jornalista, editor da revista Pacto e diretor da Carcará Agência de Conteúdo. JOSÉ TELES é jornalista, escritor, crítico de música e autor do livro Do Frevo ao Manguebeat, Editora 34. LEONARDO DANTAS é jornalista e historiador. LUIZ CARLOS MONTEIRO é crítico literário, poeta e autor de Poemas e Vigílias. MARIA ALICE AMORIM é jornalista, e pesquisadora e autora de Carnaval – Cortejos e Improvisos. MARIANA CAMAROTTI é jornalista e faz curso de especialização em Buenos Aires. PAULO POLZONOFF JR. é jornalista. Trabalhou nos jornais Rascunho e o Jornal do Estado, ambos de Curitiba. LUZILÁ GONÇALVES FERREIRA é professora da UFPE, escritora e autora dos livros Muito Além do Corpo e No Tempo Frágil das Horas, entre outros. MARCEL VIEIRA é estudante de Jornalismo e de Letras da Universidade Federal da Paraíba. WEYDSON BARROS LEAL é poeta, crítico de arte e autor, entre outros, de O Aedo.
Colunistas: ALBERTO DA CUNHA MELO é jornalista, sociólogo e poeta. Autor de 13 livros de poemas, entre os quais Dois Caminhos e uma Oração e Yacala. CARLOS ALBERTO FERNANDES é economista, professor da UFRPE e diretor geral da Revista Continente Multicultural. FERREIRA GULLAR é poeta e crítico de arte. Autor de livros como Poema Sujo, Dentro da Noite Veloz, Muitas Vozes, Cultura Posta em Questão. JOEL SILVEIRA é jornalista e autor de livros como A Luta dos Pracinhas e Tempo de Contar. Ganhou de Assis Chateaubriand o apelido de “a víbora”. MARIA LECTICIA MONTEIRO CAVALCANTI é professora. RIVALDO PAIVA é escritor e diretor geral do Suplemento Cultural do Diário Oficial de Pernambuco. É autor de Uma História de Poder e Saudades de 60. RONALDO CORREIA DE BRITO é médico e escritor. Publicou os livros de contos As Noites e os Dias e Faca.
Continente setembro 2004
CARTAS Instrumento pedagógico É de fundamental importância para o mundo globalizado e neoliberalista, ao qual estamos submetidos, que instrumentos pedagógicos possam combater tal mentalidade sem parecer tendenciosos. Parabenizo a Revista Continente Multicultural, pois, há muito tempo serve-me como suporte pedagógico, usada constantemente em minhas aulas, de maneira a valorizar a cultura popular e o indivíduo como sujeito histórico. Sou professor de História e escrevo para parabenizar, especialmente, a reportagem sobre a invasão holandesa, discutindo o fato de maneira esclarecedora e estimulando o senso crítico, ao mostrar ângulos diferentes sobre o tema; diferente do que aconteceu por vários anos em nosso país, quando a História era contada a partir de uma única visão. A visão dos vencedores. Adauto Guedes, Tacaimbó – PE Vau da Sarapalha Nada de parabéns. Afinal, isso denuncia nossa fragilidade. É uma obrigação da Revista manter o nível acima da média nacional, como vem ocorrendo, na medida em que pontua o Estado de Pernambuco. Assisti à peça de teatro, não ao espetáculo teatral, Vau da Sarapalha, juntamente com Célis e Salete Fonseca, no Teatro de Santa Isabel, há alguns anos. Ao deixarmos a platéia, estávamos revigorados e esperançosos, devido à belíssima apresentação, direção e texto, baseado no grandioso Guimarães Rosa. Discordo apenas quando se afirma, na reportagem, que um filme, por exemplo, sendo visto pela mesma pessoa mais de uma vez, perde o impacto e a magia. Não! O filme Casablanca nos diz exatamente o contrário. Ésio Rafael, Recife – PE. Hermosa Hoy recibí su hermosa publicación. Los felicitamos por la calidad excelente de la Revista, lo cual no es fácil, sabiendo que es una publicación estatal y sin fines de lucro. Muchas gracias, y Continente quedará en nuestros archivos del Centenario. Carolina Briones, Fundación Pablo Neruda, Santiago de Chile Foto e pintura Sobre o artigo “Foto e Pintura – Verdades Diversas” (“Traduzir-se”, edição nº 44, agosto/2004), não concordo que o retrato fotográfico não fale do fotógrafo. Temos diversos exemplos na História da Fotografia que nos mostram personagens anônimos retratados pelas lentes únicas de fotógrafos que têm a sua marca, e são, portanto, autores e não o deixam de ser com o passar do tempo. Avedon é um ótimo exemplo. Juliana Calheiros, São Paulo – SP
redacao@continentemulticultural.com.br Revista Continente: Rua Coelho Leite, 530 Santo Amaro, Recife-PE CEP 50100-140 Redação: 81 3217-2533 – 81 3222-4130 fone/fax
Hermeto 1 A Continente mais uma vez celebra a nossa brasilidade com uma entrevista maravilhosamente hilariante, com o brasileiríssimo Hermeto Pascoal, que mostrou se expressar, criar e harmonizar tão magnificamente as palavras como faz com a música. Parabéns, Hermeto, você é autêntico representante da nossa rica musicalidade. Patrícia Novelino, Recife – PE Hermeto 2 Parabéns à Continente Multicultural e, sobretudo, ao nosso mestre Hermeto Pascoal! Um deleite para nossos ouvidos e para nossas lembranças. Ainda há salvação! Sim, a verdadeira música existe e vai existir sempre, através de quem realmente a faz, descobre, inventa, ama, mantém e, acima de tudo, respeita-a! Salve Hermeto e seus discípulos! Taciana Soares de Barros, via e-mail Hermeto 3 Excelente a entrevista com o Hermeto. Ele diz as verdades que a indústria fonográfica e a mídia escondem do grande público. Num país como o nosso, de baixíssimo poder aquisitivo da maioria do povo, a pirataria deveria ser liberada, assim como alguns defendem a liberalização das drogas etc. Porque é o único jeito de o povão ter acesso aos produtos culturais; até porque, também, não se cogita baixar os preços exorbitantes de CDs e livros, por exemplo. Hermeto, assim como outros ícones da verdadeira cultura popular, tem autoridade para dizer o que diz, inclusive sobre o Caetano – que depois de velho está dizendo (e fazendo) asneiras. Antonio Carlos, via e-mail Hermeto 4 Grande, Inácio! Se for preciso dizer, a matéria está "massa"! Hermeto é mesmo um mestre, não se pode negar. É sempre bom saber a opinião de alguém como ele sobre essa loucura musical que temos hoje. E, sem querer ser chata, boa música e boa poesia formam uma união perfeita. Taíza Novaes, via e-mail
Hermeto 5 A entrevista está espetacular! A franqueza de Hermeto Pascoal é de impressionar qualquer um. Sempre crítico, representa, como ninguém, a cultural popular brasileira. Danielle Freire, via e-mail Gonzagão Na Revista Continente, edição nº 44, agosto 2004, um leitor fala sobre a venda de objetos do Museu do Gonzagão, em Exu. Gostaria de esclarecer que essa notícia é falsa. O Museu não vendeu nem está vendendo nenhuma peça. Faço um apelo a essas pessoas que falam do que não conhecem que venham unir-se à nossa luta na preservação do patrimônio de Luiz Gonzaga, pois além de estarem prestando um serviço à sociedade brasileira, estarão deixado de disseminar o mal e a mentira. Clemilce Cardoso Parente, Exu – PE Sabores Pernambucanos Excelente o texto “Ao Vencedor, as Batatas” (“Sabores Pernambucanos”, edição nº 20, agosto/2002). Muito bem escrito. Estava procurando dados sobre a batata e gostei bastante da abordagem histórica e comentários. Beatriz Karan, Campinas – SP Assinatura Pensei em fazer a assinatura da Continente Multicultural, há algum tempo, mas desisti. Antes de anteontem, sextafeira, ganhei a edição nº 43, julho/2004 e de pronto resolvi fazer assinatura da Continente Multicultural e da Continente Documento. Valdinar Monteiro de Souza, Marabá – PA Deu um nó no MinC Mas, o que se pode esperar de um governo socialista? (“Marco Zero”, edição nº 40, abril/2004). Com efeito, o tal “verniz neoliberal” que o senhor vê neste governo, não passa disso – verniz. O PT é a melhor antítese do governo empreendedor, efetivo, eficaz, descentralizado e democrático que todo legítimo liberal defende. Luiz Antônio Gusmão, Brasília – DF Errata Na foto publicada nas páginas 14 e 15 da edição nº 44 (agosto/2004), foi dito que Hermeto estava junto com a namorada e o filho, Fábio. Na verdade, ele está ladeado pela namorada e pelo músico Fred Andrade. Continente setembro 2004
5
Anúncio
CONTRAPONTO Carlos Alberto Fernandes
Futuro contraditório A educação é tratada como mercadoria e não como necessidade social
A
educação sem qualidade não serve mais a ninguém nesse mundo globalizado. Ela é iníqua na medida em que contribui para a exclusão. Apesar dos avanços das tecnologias, a educação que supostamente temos não é a educação que queremos, nem tampouco a de que precisamos. Os glamourosos recursos tecnológicos aparecem como mais importantes do que os fins a que se destinam – as pessoas. Uma das razões para isso é que manusear máquinas é bem menos complicado do que formar gente. Num mundo onde a educação foi transformada numa grande oportunidade de negócio, as prioridades que lhe são atribuídas, como principal alavanca de desenvolvimento, estão muito mais relacionadas à sua ação como solução empreendedora, para a sobrevivência financeira de empresários, do que para realizar a missão constitucional dos governos. Confrontada com as necessidades de superação de carências e os desafios da sociedade do conhecimento, a educação – antes de se transformar em mera mercadoria especulativa com preços aviltados, com qualidade e resultados medíocres – teria que ser vista como missão de governo e desejo da nação. Considerando que os critérios econômicos, mesmo para o bem educação, superam em muito as prioridades sociais, Cristovam Buarque tem razão, quando observa que é estratégico, politicamente, reconhecer a importância da educação como demanda de mercado. Só assim, ela será reconhecida como necessidade social. A incapacidade dos governos de compreender e agir diante da nova sociedade do conhecimento e dos ditames neoliberais da globalização transforma-os nos principais responsáveis pela exclusão social. Esta circunstância tem gerado um mar de contradições políticas e colocado por terra discursos históricos. Não é fora de propósito que as reformas educacionais, nas últimas duas décadas, não tenham conseguido superar a baixa qualidade de ensino e de desempenho, e a predominância de uma baixa escolarização da população.
Nesse aspecto, são fatores complicadores a perda da capacidade educativa das agências tradicionais – família, escola, igreja e comunidade – e o enfraquecimento dos valores sociais e pessoais, tais como a perda de ideais, a ausência de utopia e a falta de sentido na vida. Ainda fazem parte desse cenário mercados que operam com a exclusão de amplos segmentos da população, identidades culturais que se acham ameaçadas e um quarto setor, composto por uma grande economia informal, mercado negro, narcotráfico e violência urbana. Com efeito, vê-se que a força retórica da educação não tem sido suficiente como meio de cumprir seus objetivos – e de manter a convivência mesmo com o surgimento de novos meios competitivos de socialização mais avançados, como a Internet e a televisão. O certo é que essas tecnologias, efeitos da integração global, podem fazer a diferença para o bem, ou não; mas a democratização de seus conteúdos ainda é extremamente precária. Destarte, diante do estado de incerteza e de ambigüidades, inclusive das prioridades econômicas ou sociais, já está mais do que na hora, seja como demanda, mercadoria ou como necessidade social, da educação assumir novos papéis num contexto social, cujas bases tradicionais se debilitaram. Assim, diante do conflito entre realidades e possibilidades e da pressão da globalização, a educação, mesmo tratada como demanda e mercadoria, e não como necessidade social, brilhará como estrela virtual num contexto social repleto de ambigüidades e desigualdades sociais. Paradoxalmente, nesse ambiente de crescentes recursos e exclusão, seremos vítimas de um futuro com brilho, mas cheio de contradições. • Continente setembro 2004
7
Arquivo Última Hora/Reprodução
Bill Halley (com a guitarra) e Elvis Presley, na década de 50
Permanência de um canto primal Os adultos rejeitam o rock por considerá-lo adolescente, espécie de Peter Pan musical, mas o gênero chegou à maturidade com Dylan, Beatles e outros José Teles
capa
E
ntre os milhões de discos existentes na gargantuesca Biblioteca do Congresso Americano há um 78 rpm com uma música chamada “Run Old Jeremiah”, que poderia bem ser reconhecida como o marco zero do Rock’n’Roll. Um canto e resposta, com uma batida acelerada, e cuja letra diz: “O my Lord/ O Lord/ Well, well, well/ I’ve gotta rock/ You gotta rock/ Wah wah ho/ Wah wah wah ho”. Parece fazer parte do onomatopaico repertório de um dos pais do rock, o esfuziante Little Richard. No entanto, “Run Old Jeremiah” é cantada por um grupo anônimo de negros, e foi registrada, numa área rural do Mississipi, pelos pesquisadores John e Alan Lomax, em 1934. É anterior 20 anos, pois, ao suposto surgimento oficial do Rock’n’Roll. Oficialmente ele teria sido criado em 1954, quando Elvis Presley, no intervalo de uma sessão de gravação na Sun Records, em Memphis, repentinamente, cantou “That’s All Right”, de Arthur Crudup, imitando os trejeitos e maneirismos vocais dos bluesmen. O guitarrista Scotty Moore, e o baixista Bill Black entraram na brincadeira. Na cabine de gravação, Sam Phillips, produtor e dono da Sun, entusiasmado com o que ouviu, pediu que eles repetissem, agora com o tape rodando. O episódio aconteceu em 5 de julho de 1954, data também fixada como a do nascimento do Rock’n’Roll, por ter sido, a “primeira” gravação do ex-chofer de caminhão Elvis Presley, o eterno Rei do Rock. Bem, não foi exatamente a primeira. Ele já havia gravado quatro faixas na mesma Sun Records. Duas por conta própria (em junho de 1953), e as demais fazendo um teste (em janeiro de 1954). Elvis tampouco foi o primeiro branquelo a soar como um preto. Sam Phillips vivia comentando que se encontrasse um branco que cantasse igual a um negro ficaria milionário. Encontrou alguém com este dom três anos antes de Elvis Aaron Presley. Seu nome: Harmonica Frank. Nascido Frank Floyd, em 1908, em Toccopola, Mississipi (pertinho de Tupelo, cidade natal de Elvis Presley) e falecido em 1973, Harmonica Frank hoje é uma nota no rodapé de página das enciclopédias de música popular (na maioria das vezes, nem isso). Tornou-se um pouco mais conhecido depois que o conceituado crítico americano Greil Marcus escreveu um ensaio sobre ele, no livro Mistery Train (considerado um clássico na literatura do Rock’n’Roll em particular, e da música americana no geral). Continente setembro 2004
9
CAPA Harmonica Frank gravou pouco: cinco faixas na Sun e mais umas oito na Chess, de Chicago (em 1958, ele lançou um compacto independente). A música de Frank Floyd continha todos os principais ingredientes do Rock’n’Roll: “Harmonica Frank foi talvez o primeiro contorcionista vocal – tal Buddy Holly, Clarence Frogman Henry e Bob Dylan – cuja missão na vida parecia ser a destruição intencional da canção popular e do pacato e cômodo modo de vida que ela representava” (Mistery Train, Greil Marcus). Escutando-se “Howlin’ Tomcat”, de 1955, tem-se a nítida impressão de que é alguma canção perdida de Bob Dylan na época de “The Times They Are A-Changing”, de 1964. A mesma voz rouca, o violão e a gaita trafegando na contramão do canto limpo e comportado da época. Harmonica Frank, no entanto, não tinha a boa aparência, sex-appeal, nem a juventude de Elvis Presley. Começou a gravar aos 40 anos, a maior parte dos quais vividos na estrada. Era o que os americanos chamavam um hobo (aqueles vagabundos que se vêem nos filmes, que cruzam o país pegando carona em vagões de trem). Mas, embora tenha antecedido a forma de interpretar de Elvis ou Dylan, também não foi ele o inventor do rock. O gênero é uma colcha de retalhos de vários estilos musicais americanos, swing, boogie-woogie, country and western e, sobretudo o blues. Porém, há mais que isso. O espírito libertário do Rock’n’Roll é fruto da Guerra Fria, e conseqüente paranóia dos americanos pela constante ameaça da bomba pairando sobre suas cabeças. A incerteza sobre o futuro gerou na sociedade dos EUA o que Norman Mailer, num ensaio brilhante, chamou de “o negro branco”. Mailer, grosso modo, apontava que a euforia e urgência do jazz só poderiam ter surgido entre os negros (assim como o maxixe e as diversas manifestações do samba brasileiro). Comendo da banda podre de uma sociedade racista, o negro não tinha certeza de que estaria vivo no dia seguinte, daí o hedonismo que culminou na extrema liberdade estética do bebop de Charlie Parker e do rock lisérgico de Jimi Hendrix. O branco ameaçado pela destruição iminente do planeta, tal e qual o negro, passou a viver para o aqui e agora. Daí surgiram os beatniks, na segunda metade dos anos 40, que deu no hipster, dos anos 50, que desaguou no hippie dos 60. Enfim, sem a bomba, talvez gerações diferentes houvessem continuado compartilhando por mais alguns anos a mesma música e modus vivendi dos pais e tios. Até tornar-se apenas rock, em meados dos anos 60, o que tornava uma canção Rock’n’Roll era a forma como a cantavam (assim como se tornava bossa-nova um samba-canção interpretado por João Gilberto). Uma prova disto são alguns rocks de Elvis Presley. O compacto que iniciou sua carreira profissional, lançado pela Sun, em 19 de julho de 1954, traz duas músicas gravadas originalmente na década de 40. “That’s All Right” saiu em disco, com seu autor, Arthur “Bigboy” Crudup em 1946, mesmo ano de “Blue Moon of Kentucky” (o lado B), na voz de Bill Monroe. Já “Good Rockin Universal Music/Divulgação
10
Jimi Hendrix, gênio de guitarra incendiária
Continente setembro 2004
Neal Preston/Corbis
Tonight” foi sucesso regional em 1947, com Roy Brown. Ou seja, o que se convencionou rotular de Rock’n’Roll existia bem antes do seu futuro rei passar a cantá-lo. Um derradeiro, e definitivo, exemplo. “Mistery Train”, considerada a melhor gravação de Elvis Presley na Sun Records, foi disco da Carter Family, em 1930 (cinco anos antes de Elvis nascer).
Led Zeppelin: rock pesado
Coroa rebelde – Apesar de passado meio século, desde que os requebros de Elvis Presley foram censurados na TV dos EUA, e 34 anos do fim dos Beatles, o rock ainda é visto com reservas, tanto por pessoas da mesma faixa etária que ele, ou por jovens intelectuais conservadores, que ainda o vêem como uma antimúsica barulhenta, vulgar, e que põe em perigo a cultura autóctone dos seus países. Isto, da China comunista até o Brasil, sobretudo na época da ditadura militar, quando músicos do porte de Elis Regina ou Gilberto Gil saíram pelas ruas do Rio, em passeata, contra a guitarra elétrica, símbolo do rock invasor e alienante. Baden Powell chegou a estigmatizar o rock como “a Aids da música”. E o rock cinqüentão faz por onde provocar cismas em pleno século 21. Ao contrário de muitos outros gêneros e subgêneros, é uma música que nunca parou de desenvolver-se, de absorver influências e expandir-se. Como um vírus poderoso, ele se infiltrou em todos os recantos do planeta, de forma que, já nos anos 70, no Brasil, elementos de rock podiam ser detectados tanto na música de Milton Nascimento (“Fé Cega, Faca Amolada”, um clássico da MPB, é um rock, pois não?), quanto na do sambista-maior Paulinho da Viola (que se vale das ferramentas do rock, baixo elétrico, bateria, e até guitarras ao lado de cavaquinho, violão e repenique, sem perder a pureza jamais). O que provavelmente leva a grande maioria dos adultos a afirmar que detesta rock (embora o consuma inadvertidamente), é o gênero ser eternamente visto como uma manifestação cultural adolescente, uma espécie de Peter Pan, que se recusa a crescer. Quando um desses adultos ouve no rádio do carro Gal Costa cantando “Negro Amor”, ou Geraldo Azevedo, “O Amanhã é tão Distante”, provavelmente não se dá conta de que essas duas canções são de Bob Dylan, um dos responsáveis pelo rock chegar à idade adulta. “Negro Amor” é Continente setembro 2004
CAPA versão de “It’s all Over Now, Baby Blue”, e “O Amanhã é tão Distante” no original chama-se “Tomorrow is a Long Time”. A primeira é de 1965, a segunda, de 1963. Dez anos depois de Elvis Presley gravar “That’s All Right”, os Beatles invadiram os Estados Unidos e, em seguida, o resto do mundo. Se, no início, sua música celebrava a “adolescidade, idade de pedra e paz” (apud Caetano Veloso em “Acrílico”), em 1965, o quarteto inglês rumava para o experimentalismo de estúdio, e de linguagem musical. A partir do álbum Rubber Soul o rock perderia definitivamente o and roll. Composições como “In My Life” ou “Norwegian Wood” não eram exatamente o tipo de canção feita para acalmar adolescentes com problemas de desordem hormonal. “Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan, lançada no mesmo ano de “Rubber Soul”, punha uma pedra sobre qualquer resquício de juvenilidade no rock. Porém, os (como diria Nelson Rodrigues) idiotas da obje-
tividade, só enxergavam nele a guitarra elétrica e os cabelos longos dos intérpretes (por ironia, Edu Lobo, Elis Regina e Gilberto Gil, que encabeçaram a tal passeata contra a guitarra elétrica, estariam servindose do odiado instrumento poucos anos mais tarde). 1967 foi tão fundamental para o rock quanto o emblemático 1954. Com o lançamento de Sargent Pepper’s Lonely Heart Club Band, os Beatles ensinaram que não havia limites para a imaginação. No rastro deste álbummonolito negro da cultura pop vieram o rock psicodélico, o progressivo, o jazz-rock, (a reação dialética do) punk, a música disco, o techno, o DJ e, reafirmando a aldeia global preconizada por McLuhan, a música juju e a african beat nigerianas, o reggae, o tropicalismo. Tudo isto e demais sons e ruídos que zoam na Terra atualmente são aparentados, trazem na sua formação traços genéticos daquele canto primal: “O my Lord/ O Lord/ Well, well, well/ I’ve gotta rock/ You gotta rock/ Wah wah ho/ Wah wah wah ho”. •
Reprodução
12
Beatles, melhor banda de rock de todos os tempos
13
Lynn Goldsmith/Corbis
capa
O Rock dá a volta no relógio O rock, como fenômeno musical e, sobretudo, comportamental, dá sinais de esgotamento, mas sua trajetória tem importância inegável para a história do século 20 Daniel Piza
O
O rock chegou fora de forma aos 50 anos. Desde que ele arrebatou as rádios e as vitrolas com o primeiro compacto de Elvis Presley, em julho de 1954, nunca teve o espaço tão disputado quanto agora. A juventude passa muito mais tempo chacoalhando ao ritmo hipnótico da música eletrônica e venerando DJs que apenas eventualmente usam o rock em suas colagens e distorções; a TV está dominada por clips de um pop pasteurizado, de sub-Madonnas que chamam mais a atenção pelo swing do corpo que da música; o hip hop é a voz da comunidade negra e, devidamente amaciado, cai no gosto da classe média branca; no Brasil, outros gêneros como o sertanejo (ou popnejo) e o funk (dos mais grosseiros) também dividem a lista dos sucessos. O rock deixou de ser mainstream, especialmente a partir dos anos 90: não é mais a fonte central de hits e ídolos; não é mais quem dita os comportamentos. Um fã do rock diria então: o rock nunca vai morrer; e se ele saiu da moda, tanto melhor. Mas o fato é que, mesmo “alternativas”, as bandas de rock diminuem em qualidade média também. Não por acaso alguns dos melhores discos que ainda podem ser chamados de Rock’n’Roll – ou seja, uma mistura de batida e balada, em que a articulação vigorosa entre ritmo e melodia predomina sobre a harmonia – são hoje feitos por veteranos, por nomes como Lou Reed, David Bowie e Neil Young,
Ensaio dos Rolling Stones. Nos posters, Elvis e Buddy Holly
14
CAPA Bob Dylan, em desenho psicodélico de Milton Glaser
Imagens: Reprodução
que já estão na estrada faz tempo. E que grandes ídolos do passado, como Paul McCartney e Rolling Stones, continuam a atrair multidões – para ouvir seus “clássicos”, não suas composições mais recentes. Ou que exroqueiros como Elvis Costello (“Painted from Memory”) e Tom Waits (“Alice”) estejam no auge justamente por terem se aproximado do jazz e da grande canção americana da primeira metade do século 20, o universo de Cole Porter, Gershwin e tantos mais. É claro que há boa música de rock, ou pop-rock, sendo feita por bandas novíssimas como White Stripes, Strokes, The Hives, Yeah Yeah Yeahs e Franz Ferdinand; por outras que já surgiram há algum tempo, o britpop (pop britânico) de Oasis, Blur, Coldplay; e por gente que usa o rock como um de seus elementos de estilo, a exemplo de Beck, Radiohead e Ben Harper. Mas repare no próprio nome das bandas e escute suas canções mais conhecidas: as referências à era de ouro do rock – a Beatles e, digamos, todos aqueles que dominaram o mercado musical entre 1962 e 1972 – são muitas e óbvias. Nem mesmo com o poprock, já inferior, dos anos 80, de gente como U2, REM, Smiths, Prince e Nick Cave, todos ainda sobrevivendo, aquela atual geração pode ser comparada em frescor e frisson. A única exceção é o Radiohead, cujo último CD Hail to the Thief tem a sofisticação e a inquietude de um Sargent Pepper’s – mas justamente por unir experimentalismo eletrônico, melodia triste e riffs viris. Não é difícil determinar a causa. O rock surgido com Elvis, que era o primeiro a dizer que não o inventou, veio do rhythm & blues dos negros, com pitada do country dos brancos e, assim, pegou na veia de todo o mundo – especialmente da juventude que naquele pós-guerra pródigo buscava formas mais espontâneas e informais de existência, em oposição ao moralismo e ao puritanismo de seus pais. Como uma espécie de jazz acelerado, tomou a América nos anos 50 como seu antecessor a tomara nos anos 20, com três diferenças essenciais: 1) seu impacto era sobretudo físico, porque o ritmo marcado e veloz esquenta o sangue e dá compulsão de mexer e cantar (ou rebolar e gritar, twist and shout); 2) esse impacto foi amplificado por uma indústria fonográfica e radiofônica de escala muito maior e, principalmente, pela ascensão da TV como veículo número um da sociedade (Elvis, um branco bonito com voz de negro, ia ao programa de Ed Sullivan e requebrava a pélvis como num ato sexual, a tal ponto que, no começo, só o filmavam da cintura para cima); 3) a América de depois da Segunda Guerra Mundial (1939-45) se consolidou como a maior potência econômica e cultural do globo cada vez mais globalizado. O rock, portanto, surgiu num contexto histórico e comportamental único; se fez tanto sucesso, foi porque trouxe algo novo e ao mesmo tempo imediato. À medida que a comunicação de massa adquiria alcance e poder, trazendo a força do instantâneo que modificaria as modas e as artes (pense na pop art de Andy Warhol fazendo o elogio – que depois pretendeu irônico – da repetição, dos ícones de consumo e celebridades), o rock cresceu e virou o negócio hegemônico das gravadoras. A partir de 1962, quando os Beatles emplacaram com o refrão She loves you/ yeah, yeah, yeah e quase puseram de escanteio astros como Frank Sinatra (que por um tempo se tornaria música de velho, não de jovem – um tempo que felizmente já passou, pois Sinatra hoje é eterno), o rock deu as cartas quase sozinho. Janis Joplin: voz rascante e alucinada
É impressionante, porém, pensar em como se transformou já em seu primeiro decênio. Como fenômeno histórico, acompanhou os tempos e fez coro com a contracultura (liberação sexual, movimento pacifista, exaltação juvenil): já em 1967 os Beatles trocaram o estilo pseudo-ingênuo dos álbuns iniciais por um bem mais elaborado e ousado, cheio de sons dissonantes, imagens surreais e crítica social, como faria também Bob Dylan, vindo do popular folk americano. Grupos mais agressivos, com uma sonoridade e uma atitude muito marcantes, como os Rolling Stones, foram tomando espaço. Janis Joplin gravou o standard “Summertime” em versão rascante e alucinada. Jimi Hendrix, vindo do blues, deu em 1970 o famoso show em Berkeley, fazendo literalmente o diabo com a guitarra. (A ascensão da guitarra, por sinal, é parte integrante da ascensão do rock. Nada melhor para encantar agredindo ou agredir encantando do que esse instrumento elétrico de seis cordas que se encaixa ao corpo como outro corpo.) Então o rock se multiplicou ou se dividiu: vieram os movimentos – punk, metal, progressivo etc. – e, embora quase toda banda de rock “pesado” tenha feito algumas baladas lentas e lindas ou mesmo canções violentas, mas densas (Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Velvet Underground, The Clash), a sutileza foi sumindo do mapa. Nos anos 80 é que se começou a falar mais ostensivamente em pop para designar a música comercial pós-rock, normalmente estruturada em bandas jovens compostas de guitarra, bateria, baixo e vocal, que nasciam como cogumelos em garagens do mundo inteiro. Alguns grupos, como Queen e The Who, que recorreram até à ópera, reacenderam o rock e sua popularidade. Mas o pop rock já então não era o mesmo: estava adocicado, industrializado, no topo do establishment da indústria do entretenimento, ao lado dos filmes de Hollywood. Mesmo no Brasil, o chamado “roquinho nacional” – Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, Lulu Santos – parecia mais uma mistura de pop americano com MPB. Nos anos 90, apesar de sucessos como o Nirvana (cujo vocalista, Kurt Cobain, morreu em 1994 como morriam os ídolos de rock antigamente, cometendo suicídio depois de deixar um bilhete em que se queixava de não poder recuperar o paraíso sensorial da infância), o rock saiu do primeiro plano. De certo modo, o que dizia a música do bom Neil Young, “Hey, hey, my, my/ Rock’n’Roll will never die”, é verdadeiro: o rock nunca vai morrer, porque será sempre uma referência de juventude e porque já deixou um bom número de canções – de entrelaçamentos de letras e notas que podem captar um espírito de época como numa polaroid afetiva e injetar um amor pela vida intensa, em contraposição ao futuro sempre adiado em que tantas pessoas sobrevivem. Mas, se você considerar o barulho que fez e a quantidade de “artistas” que lançou num semestre para sumir no seguinte, muito tempo da vida do rock foi vivido em vão, o que é uma contradição e tanto. Rock around the clock... •
Kurt Cobain teve destino trágico, como muitos ídolos do rock
Reprodução
capa
15
CAPA
Reprodução
16
O som das tribos O Rock’n’ Roll entrou no ano 2000 como música universal, mas sem deixar margem à rebeldia. Mas, aqui e acolá, há bolsões de criatividade
“U
m mundo até então preto e branco que passou a ser colorido”, assim Keith Richards sintetiza o que significou o surgimento do Rock’n’Roll na vida dele, e de milhões de adolescentes, em meados dos anos 50. Claro que o mundo não passou a ser policromático de uma hora para outra. Desde a segunda metade da década de 40, novas tonalidades foram adicionando-se até chegarem a essa coloração final. A turma da geração beat, por exemplo, carregou nas tintas. Outsiders por opção, espécies de novos românticos, os beats adotaram padrões da cultura negra americana (o jive talking, ou gíria negra, e o bebop, entre outras coisas), em busca de um vigor e honestidade estética que não existiam mais na cultura branca, vítima de um comercialismo desvairado. O establishment (termo usado ad nauseam até os anos 70) não tardou a reprocessar a rebeldia beat, tornando-a mais um produto de consumo. Filmes, livros baratos, serviços de pronta-entrega (sic) para festinhas temáticas beat, e cafés para beats de fim-de-semana surgiram quando a beat generation ganhou a mídia e virou mais um modismo nos EUA. Até os anos 60 os beat ainda eram produtos de consumo. Vide o seriado televisivo Route 66 (aqui, Rota 66), que banalizava o clássico On the Road, de Jack Kerouac.
Continente setembro 2004
CAPA Platéia do último show dos Beatles, no Shea Stadium, USA, 1965
Fundamental para a mudança de comportamento da juventude americana (e por tabela, mundial) foi a opulência econômica dos EUA do pós-guerra. Os adolescentes entraram para o clube dos consumidores. Passaram a ter permissão de chegar mais tarde em casa e dirigir o automóveis do pai no sábado à noite. Iam dos prom (bailes) para as lanchonetes de fast-food, onde degustavam os hambúrgueres e refrigerantes sem precisar sair do carro. O drive-in disseminou-se no país, a partir da Califórnia. Careciam, no entanto de uma trilha sonora que refletisse seu novo modus vivendi. A música pop que consumiam era família demais. Não tinha distinção de faixa etária. Pais, filhos, tios, avós, todos “curtiam os mesmos sons”. Isto começou a acabar em 1955, quando o já trintão Bill Halley abriu uma fenda entre as gerações com o megasucesso “Rock Around the Clock”, música-tema do filmes Sementes da Violência (Blackboard Jungle), e Ao Balanço das Horas (Rock Around the Clock). Fenda que seria alargada, no ano seguinte, com “Heartbreak Hotel”, o primeiro sucesso nacional de Elvis Presley. “Heartbreak Hotel” alcançou o topo do paradão da Billboard, quando as músicas mais pedidas nas jukeboxes americanas eram “Memory Are Made of This”, com Dean Martin, “Jukebox Baby”, com Perry Como, e “Lisboa Antiqua”, com a orquestra de Nelson Riddle. Convenhamos, este não era o fundo musical ideal para garotos e garotas com “grana” no bolso, o pé no acelerador e a adrenalina saindo pelo ladrão. Um legítimo white trash (termo empregado para brancos pobres do sul dos EUA), Elvis Presley não tinha cultura nem educação formais suficientes para se regular pelos padrões de bom gosto da afluente classe média branca. Roupas escandalosamente coloridas, costeletas, cabelos mais longos do que se permitia ao sexo masculino, e com performances de um apelo erótico inédito em um ídolo pop. Foi o sujeito certo na hora certa. Sua era já fora anunciada pelos “profetas” James Dean, com topete caindo na testa e eterno ar de tédio, e Marlon Brando, que fez do jeans e t-shirt uma resposta da Continente setembro 2004
17
CAPA Sid Vicious, do Sex Pistols: punk rock
juventude aos ternos e gravatas dos “coroas”. Elvis (como aponta o citado Greil Marcus no livro Mistery Train) punha em prática uma liberdade que, até então, não passava de um fantasia dentro do sonho americano. (É certo que nunca passou de uma fantasia. Quatro anos mais tarde o cantor estaria totalmente enquadrado pelo sistema.) Adolescente virou uma marca. Passou-se a produzir exclusivamente para este público consumidor. Da erupção inicial com Elvis Presley e a primeira geração de roqueiros dos anos 50, os laivos de rebeldia foram acontecendo periodicamente, e indefectivelmente sendo absorvidos pelo sistema. Os jovens (um termo que passou a ser usado nos anos 60, marcando uma faixa etéria que ia da adolescência aos 20 e poucos anos) estavam irremediavelmente entregues ao Rock’n’Roll, seu passatempo preferido. Entenda-se por Rock’n’Roll um amálgama de vários estilos musicais, em contínuo desenvolvimento. O elo entre esses estilos é o direcionamento para o consumidor jovem (classificação hoje estendida até os 35 anos). Nos primeiros anos da década de 60, o rock, unindo-se à música folk, assumia uma nova forma de rebeldia. Não se pretendia mais criar um universo alternativo ao dos adultos, mas transformar o mundo. Bob Dylan é o nome mais conhecido dessa fase. Logo em seguida, os Beatles, sem o cerebralismo dylaniano, foram catalisadores da maior mudança de hábitos e costumes acontecida no século passado. No rastro dos Beatles surgiram dezenas de minirrevoluções: estéticas, comportamentais etc. Curioso é que os roqueiros insurgiam-se contra os pais e a sociedade, mas nunca contra a indústria que fazia de sua revolta objeto de consumo, transformando rebeldia em estilo. Desta regra não escapou nenhuma manifestação roqueira: hippies, punks, góticos, todos viraram objeto de consumo. Os músicos até chegaram a ter um certo domínio sobre a indústria, nos anos 60. Por algum tempo estiveram no controle dos estúdios, impondo sua música à indústria. As cifras, no entanto, soaram mais alto do que os decibéis dos amplificadores. O rock tornou-se um negócio muito importante para ser deixado aos roqueiros. Em The Sociology of Rock, o jornalista e sociólogo Simon Frith cita estatísticas de 1974. Naquele ano, a indústria fonográfica americana faturava US$4 bilhões. A música, ou seja, o rock, era o principal lazer da juventude, responsável por 80% do consumo de discos. Em 1955, produziram-se 60 milhões de discos. Duas décadas depois, estes números chegaram a 160 milhões. Depois que Michael Jackson bateu recordes com 25 milhões de cópias vendidas do álbum Thriller, não dava mais para permitir experiências que não resultassem em retorno rápido. E mais, as diversas indústrias de consumo passaram a trabalhar em conjunto (surgiram os megaconglomerados de lazer, que vendem música, filmes e livros). O Rock’n’Roll entrou no ano 2000 como música universal, mas sem deixar margem à rebeldia. Nos principais mercados consumidores de disco, a música da vez vem em ondas como o mar, na grande maioria, propagadas pela indústria. Aqui, acolá, há bolsões de criatividade. Com a pulverização do mercado discográfico, patrocinada pela Internet, pela pirataria, e pelas facilidades tecnológicas, o rock volta, ainda que timidamente, a ser autoral, a desafiar limites, a manter a integridade artística, mas é cada vez menos fenômeno de massas. Na aldeia global do som nas caixas, cada tribo tem seus hábitos de consumo particulares, e curte a música que tem a ver com o que pensa, gosta e é. • (JT)
Imagens: Reprodução
18
CAPA
A trilha da contracultura
Ao lado, símbolo do flower power Abaixo, folha de cannabis sativa, a maconha
Imagens: Reprodução
O
rock foi a trilha sonora da contracultura, que se insurgiu contra costumes e conceitos vistos pelos jovens como superados. A pílula anticoncepcional liberou as mulheres para o sexo não procriativo. A minissaia simbolizava a nova liberdade feminina. O uso de drogas “leves” como a maconha e mais “pesadas”como o LSD influíram num comportamento mais pacífico e contemplativo. Surgiam os hippies, cuja filosofia de “paz e amor” levava também à dissolução da família tradicional, integrando-a em comunidades rurais de economia comunista. Tudo era de todos, inclusive os parceiros sexuais. Os hiperasseados norte-americanos, que usavam desodorante até nas partes pudendas, passaram a abominar o banho, a fim de sentir o próprio cheiro. Os homens deixaram os cabelos e as barbas crescerem, começaram a usar roupas coloridas, colares, braceletes e brincos. Surgiu a moda unisex. A auto-estima cresceu entre os negros, com o slogan Black is Beautiful. Era o black power ao lado do flower power. Orientalismo, macrobiótica, naturalismo se disseminaram entre os jovens. E a manifestação ruidosa de festivais como o de Woodstock, deixou mitos jovens com a ilusão de que iam mudar o mundo. Tudo em vão. Quase todas as manifestações da contracultura foram incorporadas pelo consumo e a rotina do tradicional se reimpôs. Foi quando John Lennon anunciou: The dream is over. •
19
LITERATURA
Teolinda Gersão e sua árvore de palavras
Romancista portuguesa vem ao Recife para participar do Núcleo de Leitura de Autores Luso-brasileiros na UFPE Luzilá Gonçalves Ferreira
Roberta Mariz
20
LITERATURA
21
C
om Agustina Bessa Luís, Teolinda Gersão faz parte do mais importante duo de romancistas portuguesas da atualidade. Entre seu primeiro romance, O Silêncio, de 1981, e o volume de contos intitulado Histórias de Ver e Andar, de 2002, ela publicou oito livros que lhe deram, entre outros, o Prêmio de Ficção do Pen Club Português, e isso por duas vezes, o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e o Prêmio da Crítica da Associação Internacional dos Críticos Literários. E alguns de seus livros foram traduzidos para o alemão, o holandês e o francês. Nascida em Coimbra, Teolinda Gersão ali fez seus estudos universitários, aperfeiçoados em Tubinagen e em Berlim. Morou dois anos no Brasil, esteve em Lourenço Marques, que serviu de cenário para o belo romance A Árvore das Palavras, de 1977. Logo cedo iniciou uma brilhante carreira acadêmica, mas desde 1995 resolveu que sua definitiva vocação era a escrita. O Silêncio foi apontado pela crítica especializada como o primeiro sinal de uma excepcional vocação de escritora engajada com a história de sua gente, de seu país: “um livro data na ficção portuguesa pós-25 de abril”. A beleza dos títulos dos romances e novelas de Teolinda Gersão parecem convites a que mergulhemos num universo poético: Paisagem com Mulher e Mar no Fundo, O Cavalo de Sol, Os Guarda-Chuvas Cintilantes, O Silêncio. E se o estilo flui suave, aparentemente fácil, o conteúdo dessas obras não nos engana. Estamos, sim, diante de uma autora atenta ao sofrimento dos seres humanos, vivendo sob estruturas mentais, sociais e políticas opressoras. Teolinda faz de seus personagens indivíduos às voltas com conflitos pessoais, em seus relacionamentos consigo próprios, com os outros, com a ordem estabelecida. Como desabrochar plenamente, quando o espaço familiar não deixa brechas para o sonho? Como viver plenamente, quando os demais nos oprimem? Como traçar caminhos radiosos para a própria existência no mundo, no seio de uma sociedade repressora, hostil, injusta? Como ser um sujeito inteiramente livre, quando se foi preparado para Teolinda: universo poético desempenhar papéis previamente marcados no seio de uma determinada família, de uma sociedade, de uma nação? Por todo lado há regras e ao indivíduo se exigem obediências às leis, às normas de conduta. Esses questionamentos não são colocados de modo imediatamente evidente nos romances. A arte de Teolinda demanda ao leitor uma delicada, mas sempre exigente atenção ao que se sugere, ao que se diz entre as linhas, ao que se esconde nas palavras. Em A Árvore das Palavras, por exemplo, é por toques, por sugestões, por insinuações discretas, a princípio, e de modo quase simbólico, que a autora constrói a oposição entre dois mundos – o mundo do colonizador e o mundo do colonizado, convivendo em relações de poder, desde o espaço privado do lar até o espaço público das relações sociais e políticas. Como neste trecho, das primeiras páginas do livro: “Mas não era um jardim, era um quintal selvagem, que assim se amava ou odiava, sem meio termo, porque não se podia competir com ele. Estava lá e cercava-nos, e ou se era parte dele, ou não se era. Amélia não era. Ou não queria ser. Por isso não desistia de o domesticar. Quero isto varrido, dizia ela a Lóia. Nenhuma casca de fruta podia ser abandonada, nenhum caroço deitado ao chão . Isso é lá no ‘Caniço’, insistia, sempre que queria repudiar qualquer coisa. Aqui não. E logo ali a casa se dividia em duas, a Casa Branca e a Casa Preta. A Casa Branca era a de Amélia, a Casa Preta a de Lóia. O quintal era em redor da Casa Preta (...) É preciso cuidado, dizia Amélia. Estar atento. Tudo parece bem à superfície, mas
Reprodução
Continente setembro 2004
22
LITERATURA a cidade está podre, cheio de contágios. Ela foi construída possível de evasão, de auto-conhecimento ou de crescimensobre pântanos”. Amélia, a da Casa Branca, teme as febres e to. É o caso de Júlia, a personagem de Os Teclados. Vivendo os mosquitos que rondam e as transmitem. Mas Lóia, a da num ambiente familiar, onde a música e a loucura se Casa Preta, consegue criar para si um espaço individual de cotejam, a menina – e logo a moça – descobre a possibilidaliberdade e de felicidade, que escapa à lógica e ao poder de de encontrar, na arte musical, respostas para sua inquierepressor de Amélia: “Na Casa Preta não havia medo dos tação e abrigo onde aninhar sua solidão, seu desejo de transmosquitos, nem se receava, a bem dizer, coisa nenhuma. Na cedência. E essa descoberta é igualmente ocasião, para a Casa Preta as coisas cantavam e dançavam. As galinhas saíam autora, de nos colocar a questão sobre o valor e o alcance do galinheiro e pisavam a roupa caída do estendal, cagando social e individual da arte, num mundo injusto e desigual. alegremente sobre ela. Lóia gritava, enxotando-as, mas Que apesar de tudo, urge continuar tocando, escrevendo, pindesatava a rir ajoelhada na terra, esfregava outra vez a roupa tando: “Significa o quê, sentar-se e tocar? Se a sua vida fosse com um quadrado de sabão e regava-a com o regador cheio o que ela desejava, sentar-se diante de um teclado e tocar pade água. Parecia divertir-se a fazer as coisas, porque ria sem- ra um público, isso significava exatamente o quê? Não deveria haver estrado, pensou pre e nunca prendia realmente as galinhas, relanceando um olhar pela sala, o piano que tornavam a cagar na roupa, que ela devia ficar no mesmo nível das cadeiras. regava outra vez – a água saía em chuva Estamos diante de uma Porque ela não estava um degrau acima, pela mão do regador que balançava na autora atenta ao era simplesmente uma pessoa entre as mão dela. E pelo caminho entre a torneira sofrimento dos seres outras. e a roupa, ela ia ressuscitando as flores”. humanos, vivendo sob Sentar-se-ia no banco e o que a seguir Sutileza igualmente, na pintura das acontecesse, seria fruto do empenho e da relações amorosas e seus intricados jogos estruturas mentais, participação de todos. de dominação, submissão e poder. É sociais e políticas Ela partia para o desconhecido, mas assim que neste mesmo A Árvore das opressoras. Seus os outros iriam com ela. O piano era uma Palavras, a personagem feminina nos personagens estão enorme caixa negra que ela tinha o poder desvela seu amor por um homem a quem envoltos com diversos de abrir, mas não lhe pertencia, era algo ela se dirige – e seu discurso, imaginado e conflitos comum a todos, ao mesmo tempo que os na primeira pessoa, é colocado, pela ultrapassava. E se ela se aventurava a exautora, em meio à narração que se faz na terceira pessoa, sem que isso choque ou desoriente o leitor: plorar o teclado, sem nunca perder o velho medo de cair “Ser encontrada é uma morte, um júbilo, o passar de um dentro dele, os ouvintes corriam com ela o mesmo risco. Era limite. Por isso eu grito, de terror, de gozo e de espanto. E isso o que ouvir significava. (...) O trabalho sobre o teclado era porventura a transcedênentão tu pegas em mim e eu sei que estou à tua mercê e que, como um animal vencedor, me poderás levar contigo, para o cia que restava? Tudo se reduzia então a um mundo deserto, outro lado da floresta. Sim, esse instante é uma pequena onde cabia, no entanto, uma exigência rigor que era uma morte jubilosa. Triunfas sobre mim e, como se me devoras- forma de virtude (...)? Podia aceitar que assim fosse, pensou ses, eu desapareço nos teus braços. Mas de repente con- olhando em volta as cadeiras vazias. Aceitar o nada, o muntinuo viva, como se voltasse à tona de água, do outro la- do vazio. E apesar disso, pensou levantando-se e sentando-se no do de uma onda gigantesca. E agora és de novo tu, de novo um homem, o homem banco – apesar disso sentar-se e tocar.” Apesar de ser tão conhecida em Portugal como na Aleamado desta casa. Vejo o teu rosto, o teu corpo, os teus olhos sobretudo, e não sei como foi possível ter estado alguma vez manha, França e Holanda, só agora uma edição brasileira da no teu lugar o animal (...) Porque agora me és familiar como obra de Teolinda Gersão está sendo feita, sob os cuidados da o vento ou a chuva (...) E eu rio de prazer porque todo esse Planeta Editora. Mas, neste mês de setembro, Teolinda estará entre nós, convidada pelo Programa de Pós-Graduação jogo é obra minha”. Confrontado consigo mesmo, com outros seres, entre os da Universidade Federal de Penambuco, com apoio do Núquais se lançam as fragéis pontes da simpatia humana, do cleo de Leitura de Autores Luso-brasileiros, dirigido por amor, da amizade, o homem pode ainda buscar auxílio na José Rodrigues de Paiva e Anco Márcio Vieira. Bem-vinda, arte, que é sempre um lugar de respostas e espaço sempre Teolinda. E perdão pela rima. • Continente setembro 2004
Álbum de família
23 23 Conhecimento LITERATURA »
Osman Lins revisitado Dois livros de ensaios sobre o escritor pernambucano Osman Lins e sua obra, na passagem dos 80 anos de seu nascimento, analisam a sua prosa em manifestações modelares Luiz Carlos Monteiro
N
ascido em Vitória de Santo Antão, em 5 de julho de 1924, após a adolescência, o autor de Avalovara passou o restante de sua vida entre o Recife e São Paulo, tendo feito algumas viagens ao exterior. Publicado pela UFPE, Vitral ao Sol – Ensaios sobre a Obra de Osman Lins, com organização de Ermelinda Ferreira, reúne colaborações internas e externas à universidade, incluindo também depoimentos das filhas do escritor. Os textos trazem a empatia e a admiração de leitores especializados ou especialistas na obra osmaniana, que analisam a sua prosa em manifestações modelares como a ficção inicial, ligada ao regionalismo, e posteriormente sustentada nas descobertas e inovações estruturais mais independentes e arrojadas. É também analisada a ensaística dos “problemas inculturais brasileiros”. Mesmo o seu último trabalho, A Cabeça Levada em Triunfo, inacabado, merece um ensaio da própria organizadora, onde se pode ler que, “sentindo-se próximo do fim de sua vida, Osman Lins, crítico de si mesmo, põe simbolicamente a cabeça a prêmio no seu romance inacabado, antecipando as decapitações futuras, os desmembramentos e esfacelamentos a que sua obra estaria sujeita com a sua partida”. A ruptura dos limites entre a prosa e a poesia no texto osmaniano é enfatizada com rara argúcia por Lourival Holanda: “A prosa de grande densidade poética de Osman desfaz as fronteiras: porque seu sentido não se separa da musicalidade, de um certo ritmo, próprios da poesia, da melhor poesia”. Lourival é fundador do grupo de pesquisa Sol – Sodalício Osman Lins, que vem realizando encontros e eventos destinados ao estudo de literatura e, neste momento comemorativo mais específico, à obra de Osman Lins. Em Vitral ao Sol podem ser lidos também textos inéditos em livro do próprio Osman, de enfoque mais jornalístico que acadêmico, onde se destacam, por exemplo, uma “homena-
gem à memória intelectual” do crítico Anatol Rosenfeld e uma análise comparativa das obras dos pintores pernambucanos Eliezer Xavier e Aloísio Magalhães. Osman Lins – O Sopro na Argila, organizado pelo mineiro Hugo Almeida e publicado em São Paulo, pela Nankin Editorial, segue também a linhagem acadêmica. Do mesmo modo que em Vitral..., alguns ensaios aparecem excessivamente carregados de citações de origens diversas e misturam a prosa acadêmica que se reivindica mais racional e pensada com os mais medíocres lugares-comuns. A estética da recepção faz-se presente num texto da tradutora francesa Gaby Kirsch, que mapeia como se comportaram edições dos livros O Fiel e a Pedra, Nove, Novena, Avalovara e A Rainha dos Cárceres da Grécia no Brasil, na França e na Alemanha, em termos de público, crítica e editores. Sandra Nitrini, responsável pelo arquivo de Osman Lins na USP, estuda um livro diferenciado em sua obra, Marinheiro de Primeira Viagem, que é um relato de uma viagem à Europa, escrito como prosa memorialística com entradas de ficção. Num bloco desta coletânea é avaliado ainda, sob enfoques diversos, Avalovara, e igualmente, noutro bloco, A Rainha.... Comparecem também textos de nomes consagrados como Modesto Carone e José Paulo Paes, este último amigo de Osman e prefaciador de Avalovara. Uma das exceções ao texto acadêmico é o depoimento de Lauro de Oliveira, outro participante do Sol, que foi amigo e colega de trabalho do romancista em instituição bancária, militando permanentemente na divulgação do seu nome e sua obra. Oliveira elabora uma espécie de minibiografia, contemplando aspectos vivenciais, como a convivência no trabalho, em família e com intelectuais, a necessidade paralela de desenvolver o ofício literário e, em certos momentos, as profundas inquietações pessoais e éticas osmanianas. • Continente setembro 2004
24 FICÇÃO 24
Demanhã Marcel Vieira
D
emanhã: e o brilho chato dessa esfinge me penetra os poros. Na cabeça, retumba um bumbo de ressaca, ainda fermentando meu cérebro. Tinha tudo para dormir velha essa manhã até até, mas me acordou uma sensação estranha, como que os músculos envergonhados da fadiga se agitando dispostos. O desprezo matinal da vida me lembrava de todas as brigas e todos os rugidos secos da noite anterior e me asfixiava, me aturdia, me apertava... fui tomar água. *
sede. Sede. Era sertão terra e céu da boca. SEDE. E sede seca, de poeira grossa e. Sede. sede. Bebi a toda garrafa d'água. Direto na boca, beijando-a. quemerda! Ela estava muito gelada, doeu. Ainda escorreu água pelo canto da Continente setembro 2004
boca, molhando-me o queixo e respingando no pijama. Molhou meu pijama. Quemerda! Ainda estava de pijama... * domingo filho da puta. Não eram nem dez horas e eu depé. Fora dormir às cinco. Noite horrível. Noite. E a Joana fizera questão de não falar comigo quando da despedida. Era melhor ter me dado um soco. Vadia. Vadia. Vadia que eu adoro! Faz isso só porque sabe que vou sofrer e gostar. Faz isso porque sabe quanta merda eu já fiz nesse nosso relacionamento e que eu não posso mais falhar. Vadia. Me deixou com um beijo rápido, mais bochecha que boca. Só me deixou com sede. Sede. Fora a noite toda de frases curtas, risos sem dentes e uma aspereza no olhar. Quemerda! Ela faz isso só porque sabe que a adoro, a vadia. Vadia.
25 FICÇÃO
a partir da terceira. Ela sabe disso, a vadia. Logo depois do segundo toque, um silêncio lacustre me afogou, mesmo com a TV tocando qualquer jingle de merda e o vizinho de baixo escutando um samba de macumba. Daí, nada. Nada de toque. Nada de chamada. Nada de Joana. Silêncio. Só: silêncio. Eu continuei no sofá, as pernas cruzadas, o jornal aberto em qualquer notícia sem interesse, e olhando para o telefone. Silêncio. E eu também sem voz, enquanto meu coração dava piruetas dentro em mim. Demanhã estava acabando, e eu com fome um pouco mais * de fome. Não iria fazer o almoço. Nem sairia pra almoçar Um pouco de fome. Abri a geladeira e tomei um antes de falar com ela. iogurte. Ainda estava de pijama. Se ela me visse de pijama, * riria de mim. Riria daquele jeito meio sarcástico e muito ingênuo que tanto me excita. Riria até eu ficar com raiva. Quemerda! Tudo parece jornal deontem. Ah, daí riria mais um pouco, só de leve, me daria um beijo leve e iria andar pela casa. Andar pela casa, porra. Sabe que * a adoro, a vadia! Dissera que ia ligar: antes não: eu bem sabia que toda essa iniciativa: não era uma busca de reconciliação: ela não é disso, porra!: ela queria me deixar esperando: e sem poder ligar pra ela: quando quisesse: a vadia!: eu morrendo de agonia sem poder ligar: e ela dormindo: dormindo: sabe que a adoro: mas nada: quer me maltratar: eu sei: eu mereço: até: a vadia!: que horas vai ligar?: que horas: vai ligar???
* Assistia qualquer besteira na TV enquanto lia a merda do jornal deontem, quando o telefone tocou. Não que eu me assustei. Longe disso! Mas me assustei. Estava sem concentração. Esperava o telefonema. Merda, esperar é enfartante. Continuei imóvel no incomensurável período de tempo que perdurou e se estendeu entre o primeiro e o segundo toques. É costume – eu tenho esse costume – não atender o telefone logo na primeira chamada. Geralmente, só atendo
Foi ela. Sei que foi ela. Ela acordara, nem saíra da cama, pegara o telefone e dera aqueles dois toques do diabo. Sei que foi ela. Foi ela. Demanhã estava acabando e nada dela. Mas foi ela. Sei que foi ela. Foi ela. Se ela ligasse logo em seguida eu não atenderia. Mentira. Não conseguiria agüentar. Joana me deixa sem força pra orgulho. E ela está querendo me foder. Me maltratar. Pisar em mim, a vadia. Sabe que a adoro. Quemerda! Ela não devia saber que a adoro tanto, a vadia!. •
Continente setembro 2004
25
26
LITERATURA
O poeta da palavra vertical Poeta e tradutor, pouco conhecido do público, mas reconhecido por críticos e pares, Geraldo de Holanda continua a guardar o sentimento de quem mantém Everardo Norões diante das coisas uma distância poética
N
ascido no Recife, o poeta Geraldo de Holanda Cavalcanti tinha cerca de sete anos quando escreveu seus primeiros versos. Seu pai apressou-se em mostrar o poema ao sócio da loja e dele ouviu o comentário de que a influência de Casimiro de Abreu era perceptível no texto do jovem poeta. A crítica, sentida de forma severa pelo menino, secou-lhe “a pena pelos próximos sete anos”. Remonta a esse episódio longínquo de sua infância, segundo ele mesmo conta, o rigor formal de sua poesia. De fato, somente aos 21 anos, uma viagem pela Holanda voltou a avivar sua vocação de poeta. Ali, compôs os Sonetos Flamengos, nos quais ele próprio percebia a influência de Carlos Pena Filho. Como todo jovem poeta pernambucano da década de 50, era compreensível que seus escritos trouxessem a marca dos sortilégios do autor do “Soneto do Desmantelo Azul”. Os rumos definitivos de sua poesia se delinearam nos meados dos anos 50, quando a carreira diplomática o conduziu ao cargo de secretário da Embaixada do Brasil, em Washington. Atento a tudo o que se passava no mundo, sobretudo no mundo da literatura, é dessa época o seu fascínio pela genialidade do poeta Ezra Pound, que esteve preso durante 13 anos, e na ocasião encontrava-se internado como louco no hospital St. Elizabeth, bem perto do lugar onde morava Geraldo de Holanda Cavalcanti. O poeta brasileiro planejara conhecê-lo e levava consigo um exemplar de Invenção de Orfeu, que o autor Jorge de Lima enviara com dedicatória a Ezra Pound. Mas, a timidez o impediu de visitar o poeta de sua eleição e o livro que deveria entregar ao autor de Os Cantos acabou por nunca chegar ao destinatário. Por curiosa coincidência, mais de quatro décadas depois, Geraldo de Holanda Cavalcanti se tornaria o tradutor de Eugênio Montale, um dos signatários do apelo dos escritores italianos, endereçado ao governo dos Estados Unidos, exigindo a libertação de Ezra Pound.
As ocasiões do poema Geraldo de Holanda Cavalcanti
Razão tinha Borges se dizia não serem cotidianas as ocasiões do poema cuido agora de informes e de róis o nec plus ultra do ofício que o pão me justifica e as ambições me aplaca Em mil segundos tudo o que de privações do espírito me aflige será memória de poeira não mais, talvez, poeira de arquivo de poluição dourada mas poeira eletrônica recuperável e irrecuperada. Li Po cantava o pé da mulher amada E mil anos o conservam fresco e perfumado Mas eu não sou Li Po E tenho mulher e filhos em quem pensar.
LITERATURA A discrição do diplomata e o refinamento do poeta certamente contribuíram para que Geraldo de Holanda Cavalcanti tenha sido tardiamente conhecido pelo público. Em contrapartida, muito cedo grandes escritores e poetas – João Cabral de Melo Neto, Abgar Renault e João Guimarães Rosa, entre outros – reconheceram e atestaram a importância de sua obra. O primeiro livro de Geraldo de Holanda Cavalcanti intitula-se O Mandiocal de Verdes Mãos (Tempo Brasileiro, 1964). Livro curioso, cujos poemas foram escritos “de um jato”, segundo o próprio autor, e sob inspiração de Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa. Quando do lançamento, sua poesia foi saudada por Eduardo Portella como a “palavra vertical que se ergue silenciosamente no horizonte da literatura brasileira”. E o crítico José Guilherme Merquior denominou O Mandiocal de Verdes Mãos “um livre livro de outro livro”, observando nele o “prosseguimento, em versos, da potencialidade liberada pelas histórias” do autor de Grande Sertão: Veredas. De fato, Geraldo de Holanda Cavalcanti conseguiu o tour de force inusitado de escrever uma seqüência de poemas, tendo como matriz os contos de Guimarães Rosa, sem se deixar contaminar pela sombra do grande mestre de nossa literatura. Em 1965, foi publicada, em Moscou, versão mimeografada de O Elefante de Ludmila (reproduzido, em 1975, no nº 42/43 da revista Tempo Brasileiro), considerado “uma recensão poética de sua experiência na União Soviética”, onde Geraldo de Holanda Cavalcanti exercia as funções de encarregado do setor econômico na Embaixada do Brasil. Logo a seguir, viria a lume A Palavra, também mimeografado e reproduzido, em 1977, no nº 48 da revista Tempo Brasileiro; um retrato poético de um diálogo presenciado pelo autor, em sua residência de Washington, entre Clarice Lispector e Miguel Osório de Almeida”; pequeno tratado sobre a comunicação, através da palavra, no contexto de um confronto entre o intuitivo e o racional, o lógico e o poético. Em um de seus poemas de juventude, Geraldo de Holanda Cavalcanti revela que, acima dos sentimentos que o ligavam à “sua cidade e aos seus, pulsava o coração do homem”. Tal sentimento do mundo o fez deixar Pernambuco, aos 22 anos, para viver quase 50 longe do Brasil. Construiu seu universo composto de mais de 10 países e de oito idiomas. E pelos corredores e esquinas de sua Babel particular, tornou-se amigo de personagens como Octavio Paz, Guimarães Rosa, Abgar Renault, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo ou Alvaro Mutis – considerado por García Márquez o maior escritor latino-americano vivo – de quem tornou-se exímio tradutor. Geraldo de Holanda Cavalcanti conta que o escritor colombiano – mais conhecido entre nós como o romancista de Ilona Chega com a Chuva (Companhia das Letras, 1991) – tinha o sonho de um dia ser traduzido no Brasil como poeta. Tempos depois, Álvaro Mutis foi surpreendido ao receber das mãos do amigo a tradução dos poemas de seu livro Suma de Maqroll el Gaviero. “Retrabalhamos juntos esse primeiro exercício”, diz Geraldo de Holanda Cavalcanti, “e, ao longo dos anos, fui traduzindo os livros que ia publicando, sempre revendo com ele o resultado, pois Álvaro tem perfeito domínio da língua portuguesa. O resultado desses anos de colaboração é o livro que publiquei pela Record em 2000”. Também no domínio da tradução, Geraldo de Holanda Cavalcanti publicou, pela Record, as antologias dos três maiores
27
Arquivo pessoal do poeta
O poeta Geraldo de Holanda Cavalcanti
28
LITERATURA Em um de seus poemas, Geraldo revela que, acima dos sentimentos que o ligavam à “sua cidade e aos seus, pulsava o coração do homem”
poetas italianos do século 20: Eugênio Montale (Nobel de Literatura, 1975), Salvatore Quasimodo (Nobel de Literatura, 1959), e Giuseppe Ungaretti. Essas traduções – que ele trata, com modéstia, como um “exercício auto-imposto para recapturar a capacidade de escrever poesia” – valeram-lhe o prêmio internacional Eugenio Montale (o mais importante da Itália e pela primeira vez concedido a um brasileiro) e o prêmio Paulo Ronai, da Biblioteca Nacional. Apesar da intensa presença da Itália no Brasil, somos pouco informados sobre a literatura daquele país e Geraldo de Holanda Cavalcanti nos deu a conhecer “a tríade que, da forma mais exemplar e prestigiosa, pode caracterizar a poesia italiana do Novecentos”, conforme escreve Luciana Stegagno Picchio no prefácio à tradução de Poesias, de Salvatore Quasimodo. Aos 75 anos, vivendo no Rio de Janeiro, retirado dos seus afazeres diplomáticos e no pleno domínio de seu ofício de poeta e de tradutor, Geraldo de Holanda diz, agora, guardar o sentimento de quem mantém diante das coisas uma distância poética, definida por ele como uma forma de ver os fatos e sentir a vida “através de um prisma que transcende o momento e o insere numa aura de imortalidade, imortalidade entendida aí não como permanente, mas como um evento único no todo sempre”. Conheci Geraldo de Holanda Cavalcanti na Bélgica, em 1987. Naquela ocasião, ele era embaixador do Brasil junto à Comissão da Comunidade Européia. “Seco de corpo e de palavras”, assim foi descrito por João Cabral de Melo Neto, que o incluía – como a si próprio, também – na categoria de poetas do “não”, em oposição aos poetas do “sim”, “gordos e verbosos”. Naquele encontro que tivemos, para tratar de assuntos tão distantes da poesia, a impressão que me ficou foi a de um homem simples e afável, de gestos comedidos, de grande cultura, levado pelos ossos do ofício a mudar de país como quem muda de sapatos. Depois, não o vi mais. Até que, recentemente, ao folhear o livro de sua autoria, Poesia Reunida (publicado, em 1998, pela Fundação Biblioteca Nacional, em co-edição com a Editora Bertrand), pude constatar que conhecera, sem saber, naquela manhã fria de Bruxelas, um dos mais instigantes poetas brasileiros contemporâneos. •
Arquivo pessoal do poeta
O poeta no México, tendo à sua direita Álvaro Mutis e à esquerda o poeta Alberto Sanchez; de pé, o pintor Tomás Parra e o poeta Jorge Ruiz
Anúncio
30
MARCO ZERO Alberto da Cunha Melo
No fosso do rap, a música pede help
“Quando se fala de violão brasileiro, a gente costuma logo lembrar de Villa-Lobos e de seu encantamento por mestres iguais a Sátiro Bilhar, João Pernambuco e Donga. Pois Canhoto da Paraíba integra esse clã” Hermínio Bello de Carvalho
O
sociólogo Pierre Francastel, em sua volumosa coleção de ensaios, A Realidade Figurativa, refere-se a um “estranho sentimento de desprezo que os homens de ação, sejam eles técnicos ou eruditos, nutrem a respeito dos artistas, gente preguiçosa cuja necessidade no mundo não compreendem de modo nenhum e cujos êxitos financeiros além do mais os irritam”. O violonista e compositor Francisco Soares de Araújo, ou Chico Soares, ou, simplesmente, Canhoto da Paraíba, de excepcionalidade reconhecida nacional e internacionalmente, tem sentido hoje, na alma, aquele desprezo dos tecnocratas e governantes por ser um verdadeiro artista, mas certamente não os irrita, por ser pobre, por não ter nenhum sucesso financeiro. No entanto, fama sem dinheiro é desgraça na certa. Estava eu, posto em meu finito desassossego, quando o romancista e amigo Urariano Mota me nocauteia com um texto seu via Internet. O assunto era Canhoto, motivo do intróito acima. Ele diz-me, em sua “Oração por Chico Soares, Canhoto da Paraíba”, que o artista se encontra numa cadeira de rodas, vítima de um acidente vascular cerebral, com metade do corpo paralisado, inclusive a mão esquerda, com que dedilhava divinamente seu violão, e que não pode readquirir seus movimentos por não dispor de recursos para sessões de fisioterapia. Mora no bairro humilde de Maranguape I, Paulista, no Grande Recife, onde em silêncio e submissão espera socorro.
Continente setembro 2004
Mas o texto emocionante de Urariano Mota não fica apenas na denúncia objetiva dos fatos, pois mostra que neste país ainda há humanistas escondidos, gente capaz de indignação. Na sua súplica à Virgem, ele diz que Canhoto da Paraíba “transporta o céu para a brutalidade e para angústia de todos os animais que somos”. Relata que, quando o grande guitarrista flamenco, Pedro Soler, esteve no Nordeste, em 1975, declarou para todo mundo ouvir que o artista “é um dos três grandes guitarristas do mundo”. O melhor que eu faria era ceder todo este meu espaço para a prece incandescente de Urariano, reflexo de uma grandeza sequer adivinhada nas miríades de reuniões sobre política cultural, cujos participantes não sabem distinguir sequer as várias extensões e compreensões do conceito de cultura. Como não posso fazê-lo, só resta a meus milhões de leitores compartilhar comigo uma admiração que começou há 30 anos, quando, numa noite, no restaurante da Ceasa, ouvi Canhoto, pessoalmente, pela primeira e única vez. Quem pesquisar nos sites de busca da Internet o nome de Canhoto da Paraíba verá que ele figura em inúmeros álbuns, ao lado, inclusive, de gênios da música clássica, como no One Hundred Fiedler Favorite, do qual fazem parte composições de Johann Sebastian Bach, Fraz Liszt, Richard Wagner e outros. Quem se depara com a divulgação digital desses discos e pensa naqueles gravados no Brasil (tenho na mesa dois CDs, Único Amor e Pisando na
MARCO ZERO
Brasa) tem a impressão de que Canhoto está ganhando razoáveis direitos autorais. No entanto, um contato com sua família nos informa, em primeira mão, que a última quantia que recebeu pelo seu trabalho já gravado foi a de uns míseros US$190, de uma tal de Pier Music, correspondente a todo ano de 2003. O artista não tem computador em sua casa, não está conectado à Internet, portanto, não sabe que suas composições estão sendo vendidas em CD’s de 45 a 50 dólares. Estas são informações preliminares que precisam ser confirmadas e explicadas. Acreditamos que alguns críticos do batente, não aqueles da envergadura de um Hermínio Belo de Carvalho ou José Teles, possam, ao ler estas singelezas de alguém, como eu, menos que um diletante em MPB, dizer com risus sardonicus que casos como o de Canhoto existem às dezenas, não é nenhuma novidade para eles. Claro que existem, eu mesmo conheci Café e seu cavaquinho, que tocava maravilhosamente nos antigos bares cheios de ratos à beira-mar de Olinda, onde eu ia tomar umas e outras depois de uma pescaria, às três, quatro horas da manhã. Um dia, no decente Bet’s Bar, ele chegou sem cavaqui-
nho, com o braço paralisado por uma isquemia, pedindo ajuda a seus fiéis ouvintes, pois não era coberto pela previdência (quase que eu dizia Providência). Mas, porque uma injustiça é corriqueira, ela deve eternizar-se? Respondam, críticos sardônicos, que não querem perder seus empregos. E, como falei de Hermínio Belo, talvez valha a pena citar um episódio que ele testemunhou na casa de Jacob do Bandolim, no longínquo 1959. Conta Hermínio que o Mestre Radamés Gnattalli, depois de ouvir Canhoto ao violão, jogou seu copo de chope para o ar, com um palavrão, e arrematou: “Esse cara é um doido”. Bem, o enlouquecido violão está silenciado e seu virtuose paralítico. Ele foi recentemente a Brasília para abrir a nova versão do Projeto Pixinguinha, apertou com a mão sadia a mão do presidente Lula, e a de seu confrade e ministro da Cultura, Gilberto Gil. Depois voltou para seu abandono. Agora, mudando de assunto e, talvez, ficando no mesmo: a Petrobras Distribuidora vai patrocinar, com R$3 milhões, cerca de 30 shows de Roberto Carlos pelo país. Será que o Rei está precisando de dinheiro? • Continente setembro 2004
31
FRANK McCANN
O Brasil de farda Brasilianista analisa o papel das Forças Armadas ao longo da História e diz que 1964 jamais teria acontecido, se os militares tivessem entendido o que realmente aconteceu em 1889 e em 1930 Eduardo Graça
O
livro está na cabeceira do general Meira Mattos, que comandou a Brigada Latino-Americana na invasão da República Dominicana em 1965. Chega às livarias brasileiras no ano que vem, pela Cia. das Letras, mantendo o título original. Soldiers of the Pátria (Stanford University Press) foi lançado no início deste ano e conta a história das Forças Armadas brasileiras – especialmente o Exército – entre 1889 e 1937. Seu autor é o professor Frank McCann, 66 anos, da Universidade de New Hampshire, que em 1973 escreveu o estudo definitivo sobre a aliança Brasil-Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Nas 608 páginas de Soldiers, o leitor é convidado a seguir McCann pelos campos de batalha que moldaram o perfil de cinco gerações de militares. E se encontra com soldados brasileiros que aprenderam a lutar enfrentando cidadãos brasileiros. Nesta entrevista exclusiva, McCann fala do massacre de Canudos, de heróis desconhecidos, da secular prática da tortura nas mais diversas instâncias da sociedade brasileira e de outras motivações para o Golpe de 64.
Continente setembro 2004
Divulgação/Editora Jorge Zahar
CONVERSA Arquivo pessoal
32
CONVERSA Grupos militares são instituições fechadas. E o senhor era estrangeiro em dobro, quando decidiu escrever seu livro: não é nem militar nem brasileiro. As dificuldades devem ter sido imensas, não? De fato, mas acho que não pensei nisso quando comecei a pesquisa. Esta condição de ser um estrangeiro em dobro me fez analisar tudo com mais cautela e a tratar com bastante cuidado cada uma das minhas interpretações. Eu cresci durante a Segunda Guerra Mundial e meu doutorado foi sobre as relações entre os Estados Unidos e o Brasil durante o Estado Novo. Eu fiquei fascinado pela FEB – Força Expedicionária Brasileira – . E, como eu cresci em Buffalo, perto da reserva de Seneca, desde criança adorava ir para lá passar o tempo com os índios. Acho que foi lá que aprendi o meu lugar – o de observador ativo – ao ver a vida a partir da perspectiva de uma outra cultura. E é desta maneira que tenho estudado os militares brasileiros.
instituição e ao país. Honestamente, esta é uma questão ainda nebulosa para mim. Por que os sargentos, durante certo tempo, foram encarados como uma ameaça à autoridade dos oficiais? Eu tenho conversado bastante com estudantes de pós-graduação sobre a necessidade de um estudo sério do papel da baixa oficialidade nas Forças Armadas brasileiras, mas o acesso a documentos e arquivos não tem sido fácil de se conseguir.
Também foi especialmente complicado ter acesso a alguns documentos para a construção de Soldiers. O que acha da decisão do governo FHC de estender ao infinito o prazo de liberação para consulta pública de arquivos sigilosos? É um desastre. Quando estava pesquisando a aliança militar Brasil-Estados Unidos, eu pedi para ter acesso aos arquivos do Itamaraty. Mas o presidente Castello Branco, em 1965, decidiu que todos os documentos a partir de 1914 O senhor diz que as Forças Armadas brasileiras, ao estavam vedados a historiadores estrangeiros. Minha salvacontrário das dos Estados Unidos, não se caracterizaram ção foi entrar em contato com a família de Oswaldo Aranha, por uma tradição de lideranças entre os sargentos e a média e eles ofereceram todo o material disponível. Só assim pude oficialidade. O senhor acredita que este modelo reflete o fazer minha dissertação. A verdade é que, quando historiadomodo pelo qual a elite atua na sociedade brasileira? res não podem ter acesso a documentos, pessoas menos preEu penso exatamente isso. É estranho, no entanto, paradas para a função ocupam seus lugares e escrevem o que porque me parece tão óbvio o quanto isso acaba custando à bem entendem. Até posso concordar que, para uma catalogação mais eficiente, 10 anos seja um período Evandro Teixeira/Tyba razoável, mas 30 anos já é tempo demais. O Brasil é uma democracia e o que o governo Rio de Janeiro, março de 1964 eleito faz, não deveria jamais ser escondido de seu povo. Mas temo que esse decreto não seja encarado como uma exceção nos dias que vierem. Com o péssimo exemplo de Bush, eu tenho cá minhas suspeitas de que líderes em todo o mundo tratarão de esconder, mais e mais, seus documentos. Especialmente porque, em geral, eles revelam seus erros. Em sua descrição sobre Canudos, o senhor destaca, com alguma surpresa, que não existem monumentos em cida des brasileiras dedicados aos soldados que morreram – mais de 5 mil em menos de um ano – ou foram seriamente feri dos na Bahia. Há alguma explicação pa ra este fato? Eu acho que os oficiais que controlavam as Forças Armadas não se sentiam nada orgulhosos com o que aconteceu em Canudos. Continente setembro 2004
33
34
CONVERSA
Flávio de Barros/Acervo Fundaj
Eles perceberam que a campanha de propaganda deflagrada pelo governo, antes da guerra, era falsa e que as Forças Armadas tinham sido usadas “Canudos modificou de maneira totalmente abusiva. A a maneira de as tentativa de assassinato do presidente Forças Armadas Prudente de Morais é uma prova de pensarem sobre elas que Canudos modificou a maneira mesmas e suas de as Forças Armadas pensarem relações com o sobre elas mesmas e suas relações poder civil” com o poder civil constituído. Nós
mento heróico. Ele poderia ser utilizado pelas Forças Armadas como um bom exemplo de um oficial empenhado em evitar a violência... Nos Estados Unidos, convencionou-sse pensar que a profissionalização das Forças Armadas nos países em desenvolvimento reduziria a chance de deposição de governos democráticos. No entanto, o senhor afirma que o golpe de 1964 ocorreu justamente quando o país tinha chegado ao mais alto nível de eficiência de suas forças militares. Eu não acredito que a receita para evitar intervenções militares é um incremento no treinamento e na profissionalização do corpo armado. O que é preciso é acreditar de fato no controle das Forças Armadas por um comando civil e em um profundo respeito à Constituição. Nos Estados Unidos, todos os oficiais fazem o mesmo juramento: o de proteger e defender a Constituição. É interessante notar que o juramento dos oficiais brasileiros na Primeira República era o de obedecer aos seus superiores, o que é uma coisa bem diferente. É claro que eu acho que nossos militares foram longe demais no Vietnã e no Iraque, mas, nos dois casos, eles estavam sendo comandados por um governo civil.
Tropas em Canudos: sem orgulho
sabemos hoje, minuto por minuto, o que aconteceu com D. Pedro II e sua família no dia 15 de novembro de 1889. Mas, de repente, uma década depois, nós nos deparamos com uma escuridão de fatos. Não é no mínimo estranho? Eu acho que há muito mais informação nos arquivos públicos e pessoais no Brasil, que simplesmente ainda não foram devidamente analisados. Também é muito estranho que o livro de Euclides da Cunha (Os Sertões) permanecesse durante tanto tempo como a principal fonte de estudos de Canudos. Ora, ele foi uma testemunha ocular de apenas uma pequena parte do que aconteceu por lá. Na parte dedicada ao Contestado, surge em seu livro o capitão João Teixeira de Matos Costa, soldado que viveu o inferno de Canudos e que tentou a todo custo evitar o derramamento de sangue no sul do país. Ele acabou morto pelos revoltosos, mas não há menção ao seu nome nos nossos bancos escolares. É verdade, e eu posso dizer com certeza que, no meio de todo aquele horror, Matos Costa teve, sim, um comportaContinente setembro 2004
Então, vamos falar de tortura. É fato q u e o s milit a r es b r a sileir o s r ec eb er a m inst r u ç õ es e técnicas dos militares americanos. Se você olhar com atenção os capítulos anteriores a 1930, de Soldiers, vai perceber que os brasileiros nunca precisaram de ninguém para ensiná-los como torturar. Uma sociedade tão estruturada, a partir dos moldes escravagistas, lida com a tortura do topo ao fim da escala social. É claro que há certos momentos, digamos assim, de refinamento desta prática, como quando, nos anos 30, a “gangue” de Filinto Müller foi treinada pela Gestapo. O mesmo aconteceu na época da Guerra Fria, com o desenvolvimento dos “métodos de interrogação” exportados pelas agências norte-americanas e que foram utilizados no Brasil. Acho que a grande questão é tentar entender por que os oficiais brasileiros aprovaram, ou, mais grave, torturaram eles mesmos outros cidadãos brasileiros. Talvez seja pelo mesmo motivo que o governo Bush esteja tratando todos os americanos como possíveis criminosos toda vez que eles decidem viajar de avião.
Reprodução
CONVERSA dava com ditaduras e que, se eu fosse um cidadão brasileiro, estaria marchando ao lado da oposição ao regime. Mas eu não sou brasileiro, e tudo o que eu queria era entender a instituição militar brasileira. Talvez porque eu voltei seguidamente ao Brasil e porque jamais trabalhei para o governo americano ou para a CIA, os oficiais decidiram que eu era um profissional honesto. Eles apreciavam o fato de que eu lecionei em West Point entre 68 e 70 e todos mostravam-se satisfeitos com o meu livro sobre a aliança militar na Segunda Guerra, publicado em 1973.
Tropas da FEB em Montese, Itália, abril de 1945
Seu livro aponta como um dos principais motivos para a derrubada de João Goulart a falta de verbas para as Forças Armadas. O senhor realmente acredita nesta tese? Aqui, a lógica é simples: quando um governo dá para suas Forças Armadas uma missão, mas não oferece os meios para tanto, ele está procurando confusão. Para qualquer corpo militar no mundo, orçamento é a premissa para um bom funcionamento. Juscelino foi extremamente cuidadoso neste aspecto. Civis talvez pensem em armas como “brinquedos de soldados”, mas os militares as encaram como ferramentas fundamentais para o seu trabalho e para a sua sobrevivência. Esta não foi a única motivação para o Golpe de 64, é claro, mas a maioria das obras sobre a mudança de regime sequer menciona a redução do orçamento. Mas acho também que 1964 jamais teria acontecido, se os militares tivessem entendido o que realmente aconteceu em 1889 e em 1930. A maior parte dos oficiais que tomou parte nos acontecimentos de 64 acreditava piamente que os militares, de fato, tinham deposto Washington Luís e levado Getúlio ao poder. Muitos daqueles oficiais que se viram envolvidos no Golpe decidiram que eles não deveriam repetir os mesmos erros de 1930. Nada de passar o poder a um civil. E você sabe bem aonde isso os levou… O senhor conversou com inúmeros oficiais para escrever seus livros. Muitos deles participaram de eventos que o senhor condena em seus livros. Eu me lembro de que, na década de 60, eu dizia para eles que eu não conseguia entender como as coisas funcionavam no Brasil. Eu sempre deixei claro que não concor-
seriado dallas
O senhor diz que, com a promulgação da Constituição em 88, ficou claro o papel das Forças Armadas na Nova República. Estamos decididamente livres de eventos como os de 64? Eu não vou afirmar que a Constituição de 88 vai ser a última do Brasil. O futuro é um jogo a ser inventado. Eu acredito sim que haverá mudanças constitucionais no Brasil, mas não acho que haverá mudanças de regime. E acredito que nenhum país vive em uma democracia nos dias de hoje. Os Estados Unidos certamente não são uma democracia. É fato que, até o episódio de 2000, com o vexame na Flórida, nós podíamos dizer que tínhamos eleições justas. Mas, nos Estados Unidos, só há uma possibilidade para termos uma democracia verdadeira: acabar com o Colégio Eleitoral. Diante deste quadro, como eu poderia criticar a democracia brasileira? Então, fiquemos na democracia norte-aamericana. Olha, eu acredito que o voto obrigatório é o preço da cidadania. No Brasil, você tem de votar e aqui o que acontece é que o comparecimento é ínfimo. Os brasileiros muitas vezes não percebem a capacidade de discordar como um dos mais positivos aspectos de sua cultura. Nós, norte-americanos, concordamos demais, e por motivo algum. Nós simplesmente aceitamos. Bush jogou fora 200 anos de tradição ao invadir o Iraque, sem que tivéssemos sido atacados anteriormente. Como se sabe, os acontecimentos de 11 de setembro foram causados diretamente pela péssima política externa dos Estados Unidos. Ainda assim, nossa população não consegue enxergar como nosso governo criou o cenário perfeito para o terrorismo. Também não conseguem perceber que Bush foi longe demais, ao proclamar a doutrina de guerra preventiva e ainda com o requinte de anunciá-la em West Point. Nosso povo não consegue perceber por que, fora dos Estados Unidos, tudo isto faz o mundo lembrar de ninguém menos do que Hitler. Tempos fantásticos estes em que vivemos, não? • Continente setembro 2004
35
36
TRADUZIR-SE Ferreira Gullar
Arte versus mercado “Estar fora do mercado” é um valor artístico por si mesmo?
O
uvi, outro dia, um crítico de arte afirmar que é um equívoco opor-se ao conceito de “arte efêmera”, uma vez que ela representa a mais autêntica atitude do artista plástico contra o poder do mercado. Como também já defendi esta tese uns 20 anos atrás, dispus-me a reexaminar a questão, já que ela hoje me parece pouco consistente. A tese do crítico se baseia no fato de que uma instalação, por exemplo, diferentemente de uma escultura, é montada em caráter provisório numa galeria ou numa bienal e depois desmontada. Outro exemplo, uma performance, ainda mais que a instalação, é mero acontecimento. É fugaz por definição, como no caso do artista que, no dia do vernissage, em vez de expor suas obras, vestiu-se de garçom e ficou servindo cafezinho aos convidados. Nem a instalação e muito menos a perfomance podem ser comprados e, por isso, estão fora do mercado. A pergunta que se faz é se “estar fora do mercado” é um valor artístico por si mesmo? Não, dirá o crítico, mas é uma atitude ética em defesa dos valores estéticos e em contraposição ao valor mercadológico. Ou seja, a arte efêmera quer manter a pureza da arte, impedindo-a de que se transforme em mercadoria. Se aceitamos esta tese como verdadeira, teremos de concluir, obrigatoriamente, que toda a arte – à exceção da arte efêmera – não passa de simples mercadoria. Examinemos o problema mais de perto. O mercado moderno de arte surgiu provavelmente na segunda metade do século 19, quando os primeiros impressionistas romperam com a arte acadêmica consagrada no Salão Oficial que, ao premiar este ou aquele artista, atribuía valor comercial a suas obras. Ao se rebelarem contra ele e criarem o Salão dos
Continente setembro 2004
Recusados, os jovens artistas, sem o saber, exigiam que esse valor fosse determinado, não por um júri oficial, mas pelos amadores de arte, pelos colecionadores, ou seja, pelo mercado. Isto pode parecer estranho e até mesmo irônico, mas é perfeitamente lógico, uma vez que a criação do livre mercado vinha favorecer a aceitação da nova pintura que o Estado, representado pelo júri oficial, não aprovava. Não foi por acaso que os principais compradores da nova pintura eram colecionadores norte-americanos, menos presos à tradição acadêmica européia e também dispostos a correr o risco de investir em novos talentos. Esta é a razão por que uma boa parte das obras impressionistas – senão a maior parte – não se encontra na Europa, mas nos museus e coleções particulares dos Estados Unidos. Na etapa posterior, já no começo do século 20, os marchands europeus despertaram e passaram também eles a adquirir as obras modernas. Mas isto nos autorizaria a afirmar que Manet, Monet, Renoir ou Cézanne pintavam para o mercado? Que a verdadeira origem da revolução estética que deu nascimento à arte moderna foi a busca do mercado? Obviamente não. Os artistas citados, bem como os que os seguiram, estavam fundamentalmente entregues à necessidade de criar uma nova pintura, uma nova linguagem artística que fosse a afirmação de sua presença na arte e a sua contribuição ao mundo moderno que despontava. Até que surgissem compradores para suas obras, muitos deles enfrentaram dificuldades e privações. O mercado nasceu em função deles mas isto não estava em seus planos nem eles pintavam para ele. Isto não quer dizer que, no decorrer dos anos, o mercado, na medida mesmo em que se fortaleceu e se impôs,
TRADUZIR-SE
Continente setembro 2004
Reprodução
não passou a exercer influência sobre a produção artística. Deve-se, no entanto, observar que essa influência tanto foi negativa quanto positiva, já que, se tentava orientá-la no sentido de atender ao gosto dominante no momento, ao mesmo tempo assegurava ao artista condições para trabalhar sem outra preocupação que não fosse realizar suas obras. Creio mesmo que o papel do mercado foi muito mais positivo que negativo, senão por mérito dele, mas pela resistência do verdadeiro artista de abrir mão de sua liberdade criadora. Aliás, pelo testemunho dos próprios artistas, sabe-se que os grandes marchands, como Durand-Ruel e Daniel-Henry Kahnweiller, eram na verdade entusiastas da capacidade inovadora dos artistas, mesmo porque sabiam que só teriam a ganhar com isto. De qualquer modo, ninguém pode imaginar que um mestre como Giorgio Morandi, ao pintar suas magníficas naturezas-mortas, tivesse em mente a aprovação dos donos de galerias. Se meus argumentos são aceitáveis, como fica então a tese de que o valor da arte efêmera está em excluir-se do mercado? Parece-me mais plausível enten- Escultura em Gelo, Paulo Bruscky e Daniel Santiago - 1º Salão de Arte Global, Museu de Arte der esse tipo de arte como o resultado Contemporânea de Pernambuco - MAC, Olinda, 1974 inevitável de certas experiências de vanOutro exemplo – este bem mais notório – relacionaguarda que, ao longo do século 20, vieram desintegrando as linguagens artísticas até chegar à eliminação se com a conhecida instalação realizada por Chistus e que dos suportes e da própria obra enquanto coisa perma- consistia em quatrocentos guarda-sóis de grande tamanente e durável. Creio ser isto bem mais plausível, nho, instalados 200, de cor azul, na Califórnia, e outros mesmo porque não é verdade que a arte efêmera esteja 200, de cor amarela, numa praia do Japão. A novidade fora do mercado. Na verdade, participa dele de uma consistia em que todos eles se abririam a um só tempo. Estava esta experiência fora do mercado? Claro que não, outra maneira. Assim, por exemplo: certa vez, fui a uma galeria que porque o evento foi patrocinado por empresas com ampla expunha uma instalação constituída de uma grande massa cobertura da mídia. Fora isto, os estudos realizados pelo de bronze desfiado. Indaguei ao funcionário da galeria o artista, para aqueles guarda-sóis, foram postos à venda preço da obra e ele me disse que ela não estava à venda, logo em seguida. Um deles esteve exposto aqui no Rio, mas que havia ali outras obras do artista que eu poderia no Museu Nacional de Belas Artes, integrando uma comprar. E mostrou-me uma série de desenhos e gua- exposição de artistas contemporâneos. Custava a bagatela de 60 mil dólares, se bem me lembro. • ches, que nada tinham de efêmero.
37
ARTES
Léo Caldas/Titular
38
O artista pernambucano terá sala especial na 26ª Bienal Internacional de São Paulo, reproduzindo seu apartamentoateliê Weydson Barros Leal
Paulo Bruscky na sala do mundo
Arquivo Paulo Bruscky
ARTES
N
ão será fácil para os visitantes da 26ª Bienal Internacional de São Paulo classificar a obra do artista Paulo Bruscky. Nascido no Recife, em 1949, e com trabalhos nos mais variados campos da arte e da literatura, ele é um dos três brasileiros a terem Sala Especial no evento deste ano: os outros são Arthur Barrio e Beatriz Milhazes. Como pernambucano, é o primeiro a receber o convite. Aos jornalistas e pesquisadores que buscarem sua obra, este multicriador avisa: “A maneira mais correta de me classificar ainda é de artista multimedia, com mídia escrito em inglês, media”. A abrangência dessa definição pode se explicar assim: pedido um resumo de seu currículo, Bruscky costuma apresentá-lo em páginas separadas, como capítulos independentes, relacionando trabalhos e exposições em fotografia, poesia, performance, vídeo-arte, arte-correio, eletrografia (que envolve arte em xerox, fax e heliografia) e outros meios que, no fim, são quase inclassificáveis, ou definidos por curadores atônitos como poesia sonora ou visual. Em mais de 30 anos de trabalho, até hoje Paulo Bruscky realizou sua arte quase à margem da grande mídia, às vezes indiferente a galerias e museus, à guisa dos criadores que têm nas bordas do mainstream terreno fértil à produção. Em seu apartamento-ateliê no Recife – o mesmo que será “reproduzido”, na íntegra, na sala da Bienal – pode-se encontrar pinturas, colagens, esculturas, objetos achados ao acaso (seus readymade objects) e milhares de papéis. Nas mesas e estantes da pequena sala, da cozinha e nos dois quartos do apartamento há montes de revistas e catálogos, publicações técnicas e sobre arte, fotografias, álbuns e livros compondo um “caos” provocador que sequer nos deixa ver o chão. Mas ele afirma: “Costumo dizer aos que observam meu trabalho que não tentem buscar uma lógica, uma cronologia. Ao mesmo tempo, eu tenho tudo organizado em compartimentos”. Esse “tudo”, disperso entre publicações brasileiras e
Palarva, livro-objeto, caixa de madeira com aparas de papel e ovo de pedra semi-preciosa, 1992
internacionais que coleciona, tratará sempre de alguma forma de arte também realizada pelo dono do lugar, e em tudo se pode encontrar trabalhos de Bruscky ou de seus pares. Há ainda coleções inteiras de revistas raras, plaquetes em edições únicas, fitas de som e vídeo com poesia e performances de toda parte do mundo. Foi esse mundo particular que levou o curador da Bienal, Alfons Hug, após visita ao ateliê de Paulo Bruscky, a decidir “transportá-lo” para as instalações do Parque do Ibirapuera. Neste apartamento do Recife, a arte e a invenção de Paulo Bruscky transmutaram-se na estética de seu cotidiano; agora, como um teatro reinventado, migra para o cotidiano de uma grande exposição. Paulo Bruscky também é um colecionador compulsivo. Ele busca, admira, guarda e elogia permanentemente livros e obras de outros autores. Uma de suas maiores coleções é a do que se convencionou chamar “livro de artista”, pequenos objetos de arte, geralmente em forma de livro, com interferências gráficas de seus autores. Desses “livros” Bruscky também é um criador: o primeiro ele fez em 1971, hoje já são cerca de 200. Muitos, em coleções particulares, museus e arquivos pelo mundo, como o MoMa de Nova York e o Museu de Arte Moderna de Amsterdã. Por tudo isso, é estranho constatar que até hoje não tenha sido publicado sequer um catálogo sobre qualquer obra sua, silêncio que, este ano, chega ao fim. Está em preparação o livro Paulo Bruscky, da crítica e escritora Cristina Freire, que reúne em 300 páginas, com texto bilíngüe, todas as linguagens do artista. Diante da monumental produção do homenageado, este livro, com previsão de lançamento para o final do ano, deve ser visto como uma espécie de reconhecimento de uma vida – e isto já é muito – dedicada à arte. Mas vida e ofício de Paulo Bruscky nunca foram fáceis. Sua única individual, no Recife, só ocorreu em 2001, no espaço de arte da Torre Malakof, no centro antigo da cidade, patrocinada pelo governo. E em sua enorme fortuna crítica, o Continente setembro 2004
39
ARTES
Paulo Bruscky é o primeiro artista de Pernambuco a receber o convite para ocupar uma sala especial na Bienal Internacional de São Paulo. Nesta 26a edição ele é um dos três brasileiros a obterem este privilégio
Imagens: Arquivo Paulo Bruscky
40
Arte-ccorreio, 1976. Envelope com radiografia
artista guarda, ironicamente, todos os recortes de jornal em que colunistas não especializados criticaram ou menosprezaram seu trabalho nas décadas de 70 e 80. Às vezes, comentários de canto de página, mas que, lidos hoje sob a lente do que foi realizado por ele, nos dão a magnitude desses erros. Além do desconhecimento teórico, há também confusões estapafúrdias que se tornaram clássicos dos equívocos jornalísticos pernambucanos. Um deles é o caso de um “colunista” que, ao comentar uma dedicatória de Bruscky ao crítico Walter Benjamim, saudou-a como homenagem a um comandante militar em exercício no Estado, homônimo do filósofo alemão. Na edição de sua fortuna crítica, esses recortes serão publicados, em fac-símile, para evitar contestações. De todos os prêmios internacionais que recebeu, o mais importante foi o da Fundação Guggenheim, de Nova York, em 1981. Como bolsista, Bruscky morou em Nova York no ano seguinte, seguindo para a Europa, onde visitou os grandes centros de arte. Dos contatos feitos ali, frutificaram intercâmbios, através de publicações, trocas e aquisições de obras suas por artistas, colecionadores e museus, exposições coletivas e até uma individual, em 1988, na Antuérpia. A amizade com artistas e colecionadores até hoje rende troca de obras e informações. Talvez pelo nicho de especialidade e unicidade de sua obra, Bruscky se considere Arte-ppostal, 1976 Continente setembro 2004
mais conhecido fora do Brasil do que aqui. Não terá sido coincidência que um curador com experiência e sensibilidade européias o tenha convidado para participar da Bienal deste ano. Mas sua trajetória na arte, independentemente do reconhecimento local, vem de longe. O ano de 1968 foi o início da produção artística de Paulo Bruscky no Recife. Em 1970, junto com o amigo e também artista plástico Daniel Santiago, realizou uma grande mostra, instalada dentro do mar da praia de Boa Viagem, no Recife. Chamaram de Exponáutica. As obras foram imersas junto ao muro de arrecifes que caracteriza a cidade. Entre as peças e objetos colocados ali, havia até placas de trânsito. Para ver as obras, era preciso mergulhar. Como convite, os artistas atiraram ao mar dezenas de garrafas que voltaram à praia com o aviso da exposição do dia seguinte. O olho sensível para as coisas da arte, no entanto, ele desenvolve desde a infância: filho do fotógrafo Eufemius Bruscky, Paulo passou parte de sua infância dentro de um ateliê fotográfico, muito próximo das técnicas de invenção e criação das imagens. Certamente por isso também se declare “artista, fotógrafo e inventor”. Alguns trabalhos são particularmente memoráveis: “Na área de poesia sonora”, ele diz, “há um poema de repetição que
ARTES Imagens: Arquivo Paulo Bruscky
41
possibilitam uma comunicação permanente com o mundo, como a “arte-correio”, Bruscky relembra: “Nesta Silêncio: Homenagem a área eu fiz trabalhos John Cage, cartão-postal com conceituais e projetos. cotonetes Com a arte-correio, a pintados, 1992 comunicação e o subAbaixo, cartãopostal feito em terrâneo estouraram ao protesto ao vazamento do mesmo tempo para césio em Goiânia, mim: eu sabia o que o 1987 mundo pensava e o mundo sabia o que eu pensava.” E descreve o processo de um desses trabalhos: “Passei sete anos realizando um projeto que consistia num envelope sem destinatário na parte da frente, e atrás, apenas o meu endereço. Eu comecei mandando esses envelopes (dentro de outros, normais) para artistas amigos, para que eles os colocassem em caixas do correio em suas cidades e países. O envelope era todo trabalhado, e dentro tinha uma frase irônica sobre o conceito de arte e sobre a questão da violação. Como a lei universal dos correios diz que não encontrando o destinatário deve-se devolver a correspondência ao remetente, algum tempo depois eu recebia esses envelopes de volta”. E continua: “Na minha viagem pelos Estados Unidos e Europa encerrei o projeto posXerografia, 1992 tando envelopes (sem destinatário, apenas com meu endereço no Brasil) por todos os países por que passei. Todo esse mapa está registrado num caderno. Com isso se pode fazer uma análise sociológica e política dos países que enviaram corretamente, dos que violaram (e portanto leram a frase) e dos que não devolveram. Há um caso interessante desse comportamento sociológico: quando estive na antiga Alemanha Oriental, comprei selos e, voltando à parte Ocidental, coloquei no correio. Eles apenas
gosto muito, e que gravei dentro do açude do Horto de Dois Irmãos, onde funciona o Jardim Zoológico do Recife. Entrei no açude à noite, segurando um gravador, até a água chegar à cintura. Lá existia uma população enorme de rãs, que havia me impressionado com aquele som característico e intermitente, em que parecem dizer ‘uí, uí, uí...’ Já dentro d’água, comecei a perguntar baixinho: ‘Parlez-vous français?’, e as rãs iam respondendo ‘oui, oui, oui...’ até elas se acostumarem comigo e irmos todos aos gritos, com a mesma pergunta e a mesma resposta, neste poema de repetição”. E continua lembrando: “Há outro poema, em que eu saí andando pelo centro da cidade, com um gravador ligado, no meio da multidão, apenas repetindo a palavra ‘solidão...’ Depois de algum tempo, eu entrei no prédio da prefeitura, onde o ruído é enorme, e repeti a palavra sob o ruído das vozes. Isto já está gravado em CD, e deve ser lançado este ano”. Entre as exposições de que participou recentemente no Brasil, a mais importante terá sido Imagética, no Museu Metropolitano de Curitiba, entre novembro de 2003 e janeiro de 2004, onde teve duas salas. Ali perto, no mesmo período, o também cineasta Paulo Bruscky teve uma sala especial, apresentando 30 de seus filmes e vídeos, na Retrospectiva da Cinemateca de Curitiba. Esse material está sendo reeditado em DVD, para ser lançado junto com o livro de sua obra. Na área de vídeo-arte, Paulo Bruscky também é pioneiro no Brasil. O seu acervo de multimídia, seja de sua autoria ou de trabalhos que compõem sua coleção, é tão grande que ele costuma emprestar obras raras para exposições em instituições culturais do Brasil. Perguntado sobre outros trabalhos que até hoje lhe
Continente setembro 2004
ARTES
42
Imagens: Arquivo Paulo Bruscky
Está em preparação o livro Paulo Bruscky, da crítica e escritora Cristina Freire, que reúne em 300 páginas, com texto bilíngüe, todas as linguagens do artista: fotografia, performance, vídeoarte, arte-correio etc.
do artista, e irá expor para o mundo parte da construção de sua silenciosa babel de papéis. Como criador, estará consagrado um dos raros na arte brasileira; como colecionador, o seu exemplo é o de um humanista que também se orgulha do outro: “Só de livros de artista, tenho mais de 1.000 no acervo. Do Dadaísmo para cá, eu tenho. Todos originais, numerados e assinados”. E conclui, com a alegria de um menino que guarda coisas: “Da única edição do Suprematismo feita até hoje, eu tenho um, numerado e assinado. Só foram feitos quinhentos exemplares, registrados, inclusive
circularam com um lápis vermelho o selo incorreto, mas devolveram assim mesmo para o Brasil. Um dia, após uma palestra que dei em Porto Alegre, fui convidado por um psicanalista para discutir com ele uma tarde inteira sobre esse projeto. Para minha surpresa, algum tempo depois, num livro sobre Psicanálise e Arte, este mesmo psicanalista publicou um capítulo em que a- Ferrogravura, ação realizada no 2º Salão Global de borda aquele trabalho. Parte daqueles Pernambuco, 1974 envelopes que recebi de volta foram selecionados e expus com direitos de edição”. também na Imagética”. Depois da Bienal, os admiradores da obra e do acervo O universo caótico do apartamento-ateliê de Paulo de Paulo Bruscky não precisarão se preocupar com o Bruscky, reproduzido na 26ª Bienal de São Paulo, revelará, destino que os objetos daquele apartamento irão ter. “No no estranho baralho de seus papéis, acervos preciosos momento, todo meu acervo de arte contemporânea está sendo avaliado para ser mandado para uma fundação que eu indique”, ele nos tranqüiliza. Tudo, no fim, parece apenas buscar as respostas para as duas perguntas que o próprio Bruscky um dia colocou num cartaz de uma de suas performances: “O que é arte? Para que serve?” A resposta pode ser a compreensão do homem e de seu tempo. Perguntado sobre como prefere que seja classificada uma obra sua, estando exposta numa galeria ou museu, ele diz: “Arte contemporânea. Acho que, no mínimo, o artista deve ser contemporâneo de si mesmo. Eu criei um sistema de catalogação próprio, porque o que existe nos museus hoje é uma grande dificuldade de catalogar essas obras. Hoje, no MoMa, em Nova York, já existe um grupo de pessoas estudando formas de classificar obras contemporâneas, como as obras efêmeras, as esculturas em gelo, por exemplo, das quais só temos registro fotográfico. Mas a classificação depende de vários fatores, até do curador. O artista contemporâneo, às vezes, trabalha com fragmentos de várias técnicas, de diferentes mídias, e aí fica difícil o enquadramento em determinado conceito. A verdade é que não existe um sistema completo e, por essa Performance realizada pelas ruas do Recife e razão, talvez, não exista sequer uma polêmica em torno vitrine da Livraria Moderna, 1978 disso, apenas um debate permanente”. • Continente setembro 2004
Rafa Rivas/AFP
MÚSICA
Flamenco até morrer
O compositor e guitarrista andaluz Paco de Lucía vence o mais importante prêmio cultural espanhol e, na maturidade, afasta-se do desvio jazzístico para mergulhar nas raízes ciganas
U
Antonio Júnior, de Madri
m dos grandes músicos espanhóis vivos, reconhecido em todo o mundo como um dos melhores compositores e guitarristas, Paco de Lucía encabeça a revolução que o flamenco viveu nas últimas décadas. Aos 56 anos, com uma trajetória de mais de 30 discos (o primeiro deles lançado em 1967), é também o primeiro artista da longa tradição cigano-andaluza que consegue o importante Prêmio Príncipe de Astúrias de las Artes, um reconhecimento ao seu talento e à arte flamenca. Num raro momento de descanso da tournée de verão pela Espanha, na qual divulga o seu mais recente disco, Cositas Buenas, e apresenta uma banda completamente nova, conversou conosco sobre o flamenco, seus medos e a necessidade de renovação.
43
4444 MÚSICA
Paco de Lucía é um pseudônimo artístico? O meu nome civil é Francisco Sánchez Gómez. Sou o filho mais novo de uma família humilde e, primeiro, fui conhecido no bairro com o apelido de “o filho da portuguesa”, porém, logo passaram a me chamar de Paco, o que é habitual na Espanha para os que se chamam Francisco. O “de Lucía” veio logo depois. Onde morava, viviam muitos Antônios, muitos Pepes e muitos Pacos. Assim, para diferenciar-me dos demais, passaram a me chamar de “Paco, o de Lucía”. Lucía era a minha mãe.
Reprodução/Azul Music
Assim, um belo dia, Paco, ex-F Francisco, filho de Lucía, recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias de las Artes... E gostei muito, principalmente, e isso já disse publicamente, pela importância dada ao flamenco com este prêmio. É uma luta que venho levando há anos. Já era hora do flamenco ser realmente reconhecido, de situar-se no lugar que merece. Ao recebê-lo, lembrei de Camarón, que merecia o Príncipe de Astúrias tanto ou mais do que eu.
tempo, a idade, a falta de energia, de estímulo. Quanto ao fracasso, preocupa-me muito. Não sei se é por vaidade ou por necessidade de afeto, ou pelas duas coisas. Vivemos dentro de um sistema que é como um jogo, onde o sucesso significa ganhar a partida e só se consegue quando muitos gostam do que fazemos. É uma loucura. Se nos preocupamos muito, terminamos frustrados ou loucos. Quando colocou no mercado Cositas Buenas, houve uma espécie de silêncio na mídia, os especialistas não sabiam dizer se gostavam ou não. O que se passou na sua cabeça? Já esperava. É algo completamente novo, muito diferente. Os jornalistas calaram-se porque tinham como experiência outros discos meus, que entenderam depois de um certo tempo e passaram a gostar. Com Cositas Buenas ficaram perplexos, sem opinião, não se atreveram a dizer que não gostaram. Porém, é um disco que, para mim, é muito bom, um disco importante. Ele demonstra que se acabaram os fogos de artifício, a velocidade, a rapidez. Agora há mais sentimentos, descobri matizes de harmonias e ritmos distintos. O resultado é muito interessante.
A sua vitória não era dada como certa. A verdade é que nem eu mesmo esperava esse prêmio. A crítica é importante para o seu trabalho? Considerava que, na última hora, escolheriam outro, talvez AlQuando comecei, uns falavam bem e outros mal de mim, modóvar ou Bergman, ou a um músico clássico. Quando me comunicaram que estava entre os indicados e que tinha muitas e isso me fazia refletir. Porém, o que dizem agora é meio aborpossibilidades, não levei a sério. Pensava que outro ganharia. recido, repetitivo, tratam-me como um selo de qualidade, um produto aprovado. Eu preciso de críticas e, inclusive, de crítiVerdade que evita lançar discos o máximo que cas negativas, sempre que sejam construtivas, para seguir pode? Teme o fracasso? crescendo. Para seguir vivendo, necessito de surpresas. É muito complicado para A inspiração seria um trampolim para tais surpresas? mim. Sinto medo de repetirSempre pensei que a inspiração surgia quando ela tinha me, pergunto-me se estou fazendo algo novo. É uma vontade, e é mentira, surge com o trabalho. Quando se está angústia horrorosa. Po- inspirado, parece que as idéias fluem melhor, mas surpresas rém, quando percebo que fiz só mesmo tocando a guitarra diariamente e passando as idéias algo bonito, nem que sejam 10 segundos de num papel sempre e sempre, para ver se surge algo novo. música, emociono-me e dou pulos de alegria. Depois de 20 anos com o mesmo grupo, você surge Necessito saber em cada disco que estou jogando a vida. É uma luta contra o repentinamente com músicos totalmente novos. O que aconteceu? “O flamenco é a arte mais Necessitava de gente nova, de uma nova importante que temos na energia que me contagiasse. Eu creio que foi Espanha e me atrevo a dizer uma mudança positiva, porque tenho tocado que na Europa. É uma música com mais vontade do que tocava ultimamenincrível, tem uma grande te. Claro que sinto saudades dos meus velhos força emotiva e um ritmo companheiros e até pensei em conservar um ou outro, mas terminei optando por mudar e uma emoção que totalmente. Não queria influências. poucos países possuem”
MÚSICA Há muita diferença entre essa banda e a anterior? Remedios Amaya, o paquistanês Nusrat Fateh Alí O meu antigo grupo tinha uma base de jazz muito forte Khan, Ketama, Rubén Blades, La Niña de los Peines e, e esta agora é mais flamenco. A maior parte é composta de obviamente, Camarón. ciganos que conhecem profundamente o que faço. Todos têm A sua devoção por Camarón de la Isla é conhecida. o flamenco como base. Agora também há mais canto. É que Sofro por sua morte até hoje. Foi horrível. Ele não era quero ser mais flamenco, à medida que vou envelhecendo. normal. Essa voz... tudo o que criei e toquei em minha vida Que lugar ocupa o flamenco dentro da cultura mundial? resume o que senti escutando Camarón. Passará muito temO flamenco é a arte mais importante que temos na Es- po para que surja outro fenômeno como ele. panha e me atrevo a dizer que na Europa. É uma música Você se considera um tanto enigmático? incrível, tem uma grande força emotiva, um ritmo e uma Quer dizer meio louco, não? Pois sim, e é muito fácil emoção que poucos países possuem. O flamenco representa a cultura espanhola, embora muita gente não aceite essa afir- explicar o motivo. Para tocar bem é preciso passar muitas mação, já que é andaluz, e não tem nada a ver com o catalão, horas trancado, sozinho, treinando, pensando. E isso um dia e outro e outro, até chegar a uma certa neurose. Recordo uma o basco ou o galego.
No primeiro disco seu que comprei, você toca com John McLaughlin e Al diMeola, numa verdadeira fusão musical... Não acredito na fusão musical. Nos meus trabalhos com diMeola, McLaughlin ou Larry Coryell, a música não era flamenco nem jazz, era uma fusão de músicos e não de músicas. Eu aposto num flamenco com uma mão agarrada à tradição e com a outra na inovação. É muito importante não perder a tradição, porque é onde mora a essência, a mensagem, a magia. O seu cachê é um dos mais altos da Europa, tem recebido prêmios, reconhecimento, prestígio, boas vendagens... É uma novidade para um músico de flamenco, não? É um sonho, não é real. Eu tenho muito mais do que sempre sonhei, porque existem pessoas maravilhosas, em todas as áreas, escritores, atores, todo tipo de gente que faz coisas inacreditáveis e que, em troca, não são reconhecidos, e muitos morrem sem esse reconhecimento. O que tem ouvido ultimamente?
época de minha vida em que tocava o telefone e eu tremia ou ficava todo um dia nervoso, suando muito, por saber que receberia visitas. Tudo resultado de estar tanto tempo sozinho. É muito complexo. São muitas horas ouvindo-me e chega um momento em que é preciso companhia, para saber se não enlouqueci de vez. Pois você acertou, realmente tenho um toque de loucura. A nova geração de guitarristas flamencos reconhece-oo, com unanimidade surpreendente, como único mestre. Vicente Amigo chama-oo de “Deus” e Tomatito, de “Padre Nuestro”. Não se assusta com essa responsabilidade? Apenas procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira que posso e divulgar o flamenco o mais longe que consiga. Não sou nenhum Deus. O que sei é que passei a vida viajando e agora desejo um futuro diferente. Quero passar longas temporadas no México, fazendo pesca submarina e cozinhando. É o que quero. Tenho pensado muito no tempo, já que não o terei tanto. Quero ficar em casa e compor. É o que fica. Os shows são passageiros. • Continente setembro 2004
45
Regivaldo Freitas/FMI/Divulgação
46
MÚSICA
N
o verão de 1949, enquanto muitos brasileiros se agitavam ao som das músicas “Chiquita Bacana”, de Emilinha Borba, e “General da Banda”, com Blecaute, hits do carnaval daquele ano, um pequeno grupo de moças e rapazes da Tijuca, que certamente tinham horror a samba e odiavam carnaval, estavam reformando, pintando e decorando uma espécie de porão de um sobrado no bairro, o que viria a ser o Sinatra-Farney Fan Club, primeiro fã-clube do Brasil e que se tornou ponto de encontro de músicos, artistas, poetas e intelectuais da época, abrigando fascínio, sonhos, brigas, debates e música, muita música. Bem, o Sinatra-Farney estava longe de ser como o Minton’s, em Nova York, onde os futuros craques do bebop se revelaram. Mas foi lá que o país começou a ver a gênese da bossa-nova. Foi lá que talentos imberbes como o de João Donato e Johnny Alf começaram a ser burilados. Foi lá também que um jovem clarinetista e aprendiz de alfaiate, filho de um mestre de banda e irmão de outros músicos, natural de São José do Rio Preto (SP), passou pelo primeiro teste de sua vida. Com os ouvidos afinados pelo que ouviam Benny Goodman fazer com a clarineta, as jovens Joca, Didi e Teresa Queiroz, donas do clube, não se deixaram impressionar pelos sopros de Paulo Moura. Mas ele entrou, raspando, no clube. Dois anos depois, fez mais um teste. Desta vez para a Escola Nacional de Música. Foi aprovado direto para o quinto ano (será que os ouvidos delas eram realmente afinados?). Logo depois foi contratado pela Orquestra do Theatro Municipal e tornou-se o primeiro clarinetista negro e solista de uma sinfônica no Brasil. Paulo Moura é um ícone. Em julho passado, no I Festival Música na Ibiapaba, evento que reuniu 600 estudantes e mais de 20 professores de música de todo país, além de vários músicos, na cidade serrana de Viçosa do Ceará, a 340 km de Fortaleza e a 717m de altitude, ele foi aplaudido e cultuado pelos novos, por sua obra
Paulo Moura
A alquimia do sopro Com uma carreira sólida e incomparável, apesar de não reconhecida pelos brasileiros, o instrumentista Paulo Moura é a síntese da miscigenação cultural do Brasil Isabelle Câmara
MÚSICA
O instrumentista no show de encerramento do Festival Música na Ibiapaba, em Viçosa do Ceará (CE)
47
Arquivo/Ag. Globo
4848 MÚSICA
sólida, gigantesca e vertiginosa. Paulo Moura também é nome de festival – Festival Paulo Moura de Música Instrumental, que acontece desde 1997, sob sua direção, na sua cidade natal, durante o mês de novembro. Apesar da admiração e seguidores que seus talento e obra despertam, o músico revela, não com um certo ar de riso: “Não sei o que eu sou, pois ainda existem músicos radicais que recusam a minha pretensão de ser músico brasileiro”. Não adianta tentar engessar a música de Moura dentro de gêneros. Dono de uma consistente formação erudita – estudou com o maior contrapontista do Brasil e professor da ENM, Paulo Silva, com Esther Scliar, Hans J. Koellreuter (professor e compositor), com os maestros Guerra-Peixe, Cipó e Moacir Silva –, ele é um músico inclassificável. Eclético e inventivo, fica à vontade, bem à vontade, na complexidade de qualquer gênero musical, sempre imprimindo seu próprio estilo, seja na música erudita, na bossa-nova, no jazz, no blues ou na música popular brasileira. Além disso, possui notável sensibilidade: quando faz um show, a depender da reação do público, muda completamente o repertório. Ele também é capaz de, por exemplo, sair de uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Moscou, na qual foi Reprodução regente, e ir tocar numa gafieira num bairro carioca, com uma parada no Beco das Garrafas. Já acompanhou Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Dolores Duran, Elis Regina, Wilson Simonal, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Marlene Dietrich e Ary Barroso, este último por toda a América Latina e pela Rússia. Tocou com os concertistas Radamés Gnatalli, Lírio Panicalli, Zaccharias, Bernard Bernstein e Stravinsky e formou uma das primeiras jazz bands do país, tocando saxofone alto e clarinete. E não se prende a rótulos, tanto que planeja gravar um CD que utilize a cadência da música eletrônica na harmonia instrumental. “Estou sempre em K-Ximbinho: obra personalíssima e ousada
Luiz Eça também uniu a música erudita e a popular
transformação. A música eletrônica é atraente e quero adaptála à nossa rítmica. O que eu procuro fazer, depois de tocar muito jazz, é me dedicar à música brasileira”. Mesmo sendo reconhecido internacionalmente, o que já lhe garantiu inúmeros convites para tocar e reger no exterior e alguns prêmios, inclusive o Grammy Latino em 2000, os brasileiros ainda não dão a merecida dimensão à obra e à carreira de Moura. Por quê? “Talvez por questões étnicas”, avalia. Ainda assim, ao lado de Luiz Eça, Victor Assis Brasil, Sivuca, Villa-Lobos e Hermeto Pascoal, representa a vigorosa e efervescente síntese de uma geração que, depois de ter assimilado a música erudita e o jazz, mergulhou na riqueza rítmica da nossa cultura, compondo um novo caminho de expressão: a música instrumental brasileira. O mergulho de Moura foi especialmente no chorinho, gênero que se assemelha ao seu eterno estado de espírito – brincante na maneira de tocar, de frasear, aberto aos improvisos. Revisitou a obra do mestre Pixinguinha e de K-Ximbinho – potiguar que foi saxofonista da Orquestra Tabajara e deixou uma obra personalíssima e ousada, que une o choro, tão brasileiro, ao jazz, tão americano, e abole uma parte do choro, tradicionalmente composto em três, deixando a terceira parte aberta à liberdade, aos novos desenhos e fraseados –, e renovou o estilo; movimento também encampado por Hermeto Pascoal e que ganhou adeptos em todo país, especialmente no Rio de Janeiro, Recife e Brasília. “Existem pessoas que acham que choro de verdade é só
MÚSICA Divulgação
aquele que foi até Jacob do Bandolim, mas eu acho até que eles fazem um Jacob na idade do Pixinguinha. O Jacob do Bandolim não tinha preocupação se era jazzista ou não, porque tem muita coisa dele que parece jazz. Eu aplaudo bastante este interesse pelo choro, pelo samba”. E arrisca uma previsão, a de que o choro, um dia, vai se tornar samba, ou vice-versa: “Eu já gravei alguns choros e os choros que eu fiz são sambas. Tenho um choro que se chama ‘Tarde de Chuva’; a segunda parte do choro é um partido alto. O choro do K-Ximbinho tem muito de samba. Inclusive outros compositores dos anos 50 fizeram choros em duas partes, que às vezes vira um tema para improvisação. É um samba instrumental – é cho- Astor Piazzolla: aproximação com a música brasileira ro? É uma confusão que, daqui a como nosso violonista de sete cordas toca. Uma das caracteuns tempos, ou acaba ou fica muito maior”. Em seu mais recente álbum, em parceria com o violonista rísticas também importantes é o antiacademicismo. Para a Yamandú Costa, El Negro Del Blanco, Paulo Moura faz uma academia, um trompetista americano como Dizzy Gillespie viagem por aquela sonoridade, abrindo ainda mais seu uni- tocar inchando as bochechas, está errado. Este antiacademiverso musical e aproximando músicos como Astor Piazzolla, cismo é um ponto que une nossas músicas”. É um disco que, somado aos quase 20 da carreira de Atahualpa Yupanqui e Violeta Parra de Jacob do Bandolim, João Pernambuco e Baden Powell. “Existe uma essência, Moura, adensa a alquimia da sua obra. E não importa se é uma maneira de interpretação, que eu identifico num cantor brasileira, americana, latino-americana. A música de Paulo da velha guarda da Mangueira ou do Salgueiro e no violinista Moura é simplesmente originalíssima e permeável, rica em Itzhak Perlman, por exemplo. A maneira como um violão da nuances e informações de várias culturas. É a música de Argentina toca um tango, tem muito a ver com a maneira Paulo Moura. É universal. •
49
Anúncio
Anúncio
52
SABORES PERNAMBUCANOS Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti
Fotos: Leo Caldas/Titular/Cortesia Restaurante Chica Pitanga
Vinagre, o vinho ácido "O peixe, por exemplo, pode ser uma tainha. Logo depois de bem assada e alourada, umedecei-a com vinagre superfino. Servi e louvai Netuno, deus dos peixes" Eça de Queiroz (Notas Contemporâneas, 1893)
C
lara de ovo e vinagre. Com esses ingredientes as mulheres de Atenas preparavam cremes para aveludar a pele. Não ficavam só nisso, na busca pela beleza terrena. Pintavam lábios com açafrão. Escureciam cílios com fuligem. Clareavam dentes com sálvia. Vaporizavam o corpo, ao sair do banho, com vinagre aromático. Não por acaso a palavra perfume significa, literalmente, “pela fumaça” (per fumum). Além de perfumar essa vaporização, segundo se acreditava, também livrava seus usuários dos maus espíritos. Para essa lenda contribuindo o fato provado de que nenhum perfumista tenha nunca sido vítima de pestes. Sem contar que, durante estas pestes, cadáveres eram saqueados por ladrões que borrifavam Continente setembro 2004
seus corpos com vinagre. Até virou perfume, em Marselha, conhecido (bem a propósito) como Quatro Ladrões – tendo em sua fórmula, além de vinagre, também essências de plantas aromáticas e alho. Vinagre, o vinus acrem, nasceu junto com o vinho. Primeiro foi remédio. Hipócrates (400 a.C.), pai da Medicina, receitava a seus pacientes 2 colheres de sopa de vinagre depois das refeições. Para ajudar na digestão e evitar intoxicações. Era bom também para curar feridas, queimaduras e picadas de abelha. Ainda hoje é usado para esses fins. Depois foi bebida. Como a “Posca” romana – uma esquisita mistura de água, vinagre e ovos. Esse hábito sobrevive, ainda hoje, em alguns poucos lugares – como no
SABORES PERNAMBUCANOS
Alentejo, onde refrescos de vinagre continuam fazendo a festa. Quando Jesus disse “tenho sede”, um dos soldados molhou esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e alcançou a sua boca. “Por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre” (Salmos- 68, 22). “Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito” (Jo - 19, 30). Dando sua vida para redimir nossos pecados. Mas o prestígio do vinagre aumentou mesmo só bem depois, como conservante de alimentos – que frutas, legumes e peixes, quando submersos nele, conservam-se por muito tempo. E, sobretudo, quando começou a ser usado como condimento, para realçar os sabores. Vinho se transformava em vinagre. Isso toda gente sabia. Só não se conseguia explicar como. Durante muito tempo se acreditou fosse produto de “geração espontânea”. O vinho, em certas situações, fermentava e pronto. Assim foi, até quando o famoso cientista Louis Pasteur, em meio aos estudos para criar uma vacina contra a raiva, acabou desvendando o mistério. Compreendendo que aquela transformação decorria de uma
simples bactéria – a mycoderma acéti, que convertia vinho em ácido acético. Depois Pasteur inventou o processo que acabou ganhando seu próprio nome – a pasteurização. Que consistia em elevar a temperatura de alguns alimentos, como leite e cerveja, livrando-os de micróbios, sem lhes alterar gosto e outras propriedades. Fazer um bom vinagre não é tarefa fácil. Requer absoluto controle de leveduras, bactérias, clima e tempo de armazenamento. Em uma primeira etapa, leveduras transformam açúcares naturais em álcool (fermentação alcoólica). Depois, as bactérias transformam esse álcool em ácido acético (fermentação ácida). Durando todo esse processo, em média, quatro meses. Cada país tem legislação com regras próprias de fabricação. No Brasil, por exemplo, só é considerado vinagre produto que tenha acidez mínima de 4%. Melhor vinagre é o de vinho, claro. De vinho branco, usado para temperar saladas, picles, frutos do mar, peixes, aves, carneiro e molhos (escabeche, holandês e vinagrete). Ou tinto, mais forte, apenas para temperar saladas, carnes vermelhas, porco, fígado, ovos e moContinente setembro 2004
53
54
SABORES PERNAMBUCANOS Leo Caldas/Titular/Cortesia Restaurante Chica Pitanga
RECEITA: SALADA DE BETERRABA INGREDIENTES: 1 kg de beterraba (ligeiramente cozida e ralada em ralo grosso), 2 maçãs raladas, folhas de alface americana e francesa, ½ xícara de passa. MOLHO: 4 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de vinagre, 1 colher de chá de mostarda, 1 coher de chá de açúcar (ou adoçante), sal e pimenta PREPARO: Misture beterraba, maçã e passa. Misture todos os ingredientes do molho e reserve. Arrume as alfaces e, no centro do prato, a beterraba. Na hora de servir, regue com o molho.
lho de pimenta. Valendo lembrar que “vinagreira” é onde se guarda o vinagre, enquanto “vinagreiro” é aquele que fabrica o vinagre. Na França de Carlos VI (século 14), era grande a importância desses fabricantes de vinagre de vinho, que se agrupavam em confrarias para influir na vida política e social do país. Mas esse vinagre pode vir de qualquer suco que contenha açúcar (uva, maçã, morango, mel) ou amido (batata, cevada, milho, arroz). No fundo, cada lugar acaba utilizando a matériaprima que tenha disponível. EUA, cidra de maçã; Inglaterra, malte de cevada; Japão e China, arroz, delicado e doce, muito usado no sushi. Em algumas localidades do Mediterrâneo, vinagres aromatizados com ervas (endro, alecrim, estragão, manjerona, erva-cidreira, menta, zimbro, segurelha, tomilho) ou frutas (framboesa, cereja e todas as cítricas). Portugal e Brasil usam mais os de vinho, branco ou tinto. Embora haja também um vinagre de sabor forte e adocicado, bem nosso, feito da cana-de-açúcar. Na Itália, destaque para o requintado vinagre balsâmico, escuro e grosso. Feito de uvas brancas Trebbiano, muito maduras, envelhecido em barris de madeira por, no mínimo, 12 anos. Diz-se balsâmico porque, além de saboroso, tem efeito tranqüilizante. Os melhores vêm de Modena e Reggio, na região de Bolonha. Por Continente setembro 2004
isso o verdadeiro vinagre balsâmico tem, no rótulo, a inscrição API RE (produzido em Reggio) ou API MO (produzido em Modena). Este último trazendo, ainda, a inscrição Aceto Balsâmico Tradizionale de Modena. Esse vinagre chegou ao Brasil com Cabral. “A bordo os homens tinham rações iguais: 15 kg de carne salgada por mês, cebola, vinagre, azeite, biscoito. Para beber, uma canada (1,4 litro) diária de vinho e uma canada de água”, assim escreveu Eduardo Bueno (A Viagem do Descobrimento). Não havia caravela que chegasse por aqui sem trazer “vinagre, azeitonas, queijos, passas, embutidos, conservas e outras coisas de comer”, observou padre Anchieta. Mas era iguaria só para portugueses. Que índios e negros, durante muito tempo mais, continuaram por não lhe dar importância. Só pouco a pouco ganhando o gosto de toda gente. E não só na culinária. Sendo hoje também usado como amaciante de roupa ou germicida; na limpeza de tapetes e de cabelos oleosos; na preparação de picles e para amenizar odores fortes (cebola e repolho). Se fosse árvore, bem que dele se poderia dizer ser “pau para toda obra”. Um sabor de mil e uma utilidades. •
DIÁRIO DE UMA VÍBORA Joel Silveira
Um banho de oceano
R
ubem Braga costumava dizer que nós, os sergipanos, temos mania de grandeza. Somos sempre exagerados, quando nos referimos às coisas da nossa terra. E dava um exemplo: – Todo mundo, em qualquer parte, costuma tomar banho de mar. Sergipano, não. Sergipano só toma banho de oceano. OCEANO ! Talvez mestre Braga tivesse alguma razão. Somos, realmente, dados a superlativos. Mas nesse caso específico do oceano (ou do OCEANO) sergipano, Rubem é injusto – ou inexato, coisa rara nele. Entendam-me. Não posso, nenhum sergipano pode aceitar, como oceano, um mar atravancado de ilhas, como, para dar um exemplo, esse que bordeja o Rio e
o litoral fluminense. Assim não é o oceano sergipano. Inteiriço, ele se abre reto, infinito, horizontal, rendando, com suas espumas de seda, dezenas e dezenas de quilômetros de uma mesma praia. Aqui está ele – o OCEANO – bramoso, como um permanente desafio aos olhos que inutilmente tentam alcançar a última fronteira de sua vastidão sem tamanho. Além da praia, apenas ele – o OCEANO, total, paralelo ao céu, iridiscente sob o sol que sobre ele arde das cinco da manhã às seis da tarde. Pois é, Rubem. Há oceanos, Oceanos e OCEANOS. E o de Sergipe, para inveja de Rubem, tatu de Cachoeiro de Itapemirim, inclui-se, formidável, oceaníssimo, entre os últimos. •
Continente setembro 2004
55
ESPECIAL
As idéias e a escrita de Agualusa “Muitas das críticas elogiosas que me fazem são más críticas, porque não acrescentam nada ao meu livro. Não ajudam o leitor a entrar naquele livro”
Fotos: Divulgação/Gryphus
56
ESPECIAL
O escritor José Eduardo Agualusa defende a fantasia como núcleo da narrativa e analisa a literatura de Angola, sua terra, onde “temos poucos escritores, mas em compensação temos grandes personagens, temos grandes histórias para contar” Paulo Polzonoff Jr.
I
maginação. Este é o norte pelo qual se orienta o escritor José Eduardo Agualusa, autor do recente e aclamado O Vendedor de Passados. De visita ao Brasil, onde esteve para participar da Festa Literária Internacional de Paraty, o autor foi engolido por um turbilhão de considerações exteriores à sua literatura. Teve gente dizendo que, mais do que escritor, Agualusa era um galã capaz de disputar com Chico Buarque. Isso dá uma idéia de como entendemos a literatura. Conversei com o autor na Livraria da Travessa, reduto da inteligência de Ipanema. E, a princípio, ficou claro tanto para o escritor quanto para mim que havia um ruído nas informações que nos chegavam de Angola. A relação de Agualusa com a União dos Escritores Angolanos, por exemplo, era supervalorizada. Eu achei que tinha diante de mim um guerrilheiro literário e encontrei tão-somente um homem preocupado com a imaginação. “Não sou militante!”, disse ele, não poupando a exclamação. Insisti: minhas fontes não podiam estar tão enganadas. Mas estavam. Tratavam José Eduardo Agualusa como um defensor da língua portuguesa de dar inveja ao deputado Aldo Rebelo. E ele: “Eu acho que a língua portuguesa, como todas as línguas vivas, tem de entrar em contato com outras línguas”. José Eduardo Agualusa nasceu em 13 de dezembro de 1960, em Huambo, Angola. Estudou Agronomia e Silvicultura antes de se dedicar aos livros. Já foi poeta - não é mais. Ou, por outra: “O poeta que havia em mim eu realmente o desviei para prosa.”. É cronista do jornal português Público. Um sagitariano andarilho, Agualusa já morou em Portugal e em duas cidades brasileiras: Olinda e Rio de Janeiro. No Brasil, tem publicados pela pequena editora Gryphus os romances Nação Crioula, Um Estranho em Goa, Estação das Chuvas, O Ano em que Zumbi Tomou o Rio e o recente O Vendedor de Passados. O que diferencia Agualusa do escritor brasileiro é o modo como expõe suas idéias: sem medo, sem receio e, mais importante, sem a volúpia da polêmica. Quando o assunto é a briga entre José Saramago e António Lobo Antunes, por exemplo, José Eduardo Agualusa se posiciona com um sorriso no rosto: “Eu sou do partido do António Lobo Antunes...” Mas, maduro, não se deixa levar por arroubos bélicos: “O que não quer dizer que eu não tenha lido com muito prazer alguns livros do Saramago. Ele é um bom escritor e há um trabalho de linguagem e tudo, mas o Lobo Antunes vai ao limite”. Mostrando lucidez rara, José Eduardo Agualusa vê com preocupação a crise por que passa a crítica literária, tanto no Brasil quanto em Portugal e na África. Em Portugal, aliás, paira sobre os críticos uma desconfiança avassaladora. O mito da opinião comprada abala a credibilidade dos que se dedicam a escrever sobre livros. “Respeito muito os críticos literários, porque me ajudaram a refletir e encontrar soluções para o meu trabalho. E acho que crítica é também muito importante para o leitor. O bom crítico ilumina um livro. Ele Continente setembro 2004
57
58
ESPECIAL
dá uma série de dados para o leitor, que passa a ler o livro de outra maneira”, diz. Para um escritor tão elogiado, seria uma atitude cômoda sossegar diante dos jornais que lhe tecem loas. Mas Agualusa é também um inconformado com aquilo que considera burrice e, por isso, não vê com bons olhos as críticas elogiosas, mas rasteiras, que recebe. “Muitas das críticas elogiosas que me fazem são más críticas, porque não acrescentam nada ao meu livro. Não ajudam o leitor a entrar naquele livro. Este livro (O Vendedor de Passados), por exemplo, não teve nenhuma boa crítica em Portugal. Todas as críticas que li até agora foram muito elogiosas, mas nenhuma é uma boa crítica. São críticas preguiçosas ou escritas por pessoas que têm pouco a dizer e que lêem pouco”, constata. Por aqui, seus livros são tratados como verdadeiras teses a respeito da sociedade angolana. Um engano recorrente, que Agualusa faz questão de esclarecer. “Acho que falo de política, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a fantasia. Meu livro Um Estranho em Goa, por exemplo. Todo mundo fala que é um olhar estrangeiro sobre Goa e não é. É um falso livro de viagens, cujo enfoque é muito mais sobre a figura do Diabo”, explica. O olhar sócio-político sobre uma obra pautada na memória e na imaginação talvez se deva à idéia atual de que o escritor tem que ter um compromisso com a realidade. Idéia esta com a qual Agualusa não compactua. “Acho que você pode, dentro de um romance, pensar sobre o seu tempo. Agora, o romance é fantasia. E o escritor não tem de ter compromisso com a realidade. Quem está interessado em realidade, acho que não deve ler meus livros. Eu não tenho compromisso nenhum com a verdade. E muito menos com a verossimilhança”, rebate. O passado e a memória são pontos de partida para muitas das histórias de Agualusa, que, curiosamente, se diz um antisaudosista. “Acho que é importante conhecer o passado, mas não como em Portugal, onde o importante é você ficar com saudade do passado. Acho saudade uma palavra horrível! Não gosto de saudade”. Outra característica de seus romances é uma busca por integrar as culturas dos países de língua portuguesa. Para alguém que a vive em sua plenitude, dos dois lados do Atlântico, Agualusa fala com propriedade sobre a tal da lusofonia, palavra que encanta os acadêmicos por aqui: “Não gosto desta expressão. Não gosto porque acho redutora. Lusofonia é um termo que diz respeito somente a Portugal. Não é Continente setembro 2004
“A ignorância do brasileiro em relação a Angola é tão grande quanto em relação ao Japão. O Brasil tem vergonha de suas origens africanas”
ESPECIAL
como commonwealth, que vai além da Inglaterra”. Publicado em vários dos países que têm o português como língua oficial, o escritor é taxativo quanto às propostas de reforma ortográfica que, volta e meia, aparecem na imprensa: “Isto era um projeto do Antônio Houaiss que ainda não saiu porque muita gente em Portugal se acha ainda dona da língua. O que é um disparate!”, reclama. Disparate também, para Agualusa, são as traduções do português de Portugal para o português brasileiro. “É a mesma coisa que traduzir o Rubem Fonseca do carioquês para o pernambuquês”, diz. O Brasil ainda desconhece Angola. Agualusa, porém, não vê isso com muito espanto. “Acho compreensível que o brasileiro não saiba onde fica Angola; já não acho compreensível que um brasileiro não saiba onde fica a Itália. Ou o Japão. A ignorância do brasileiro em relação a Angola é tão grande quanto em relação ao Japão.” Para ele, a explicação é fácil: “O Brasil tem vergonha de suas origens africanas”. Talvez a chegada, por aqui, de livros e autores como ele diminua esta distância entre os dois países. Se faltam autores na África de língua portuguesa – e faltam – o mesmo não se pode dizer de histórias. “Temos poucos escritores, mas em compensação temos grandes personagens, temos histórias, grandes histórias para contar, histórias à espera de escritores capazes de as contar”, explica. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que o escritor angolano fuja da inventividade estéril que tem marcado a literatura contemporânea. É preciso que encontre sua porção Sherazade. “As pessoas querem é ouvir histórias! E todos queremos que nos contem histórias. Meu filho não dorme sem que eu lhe conte histórias. E isso, de fato, a literatura começou a perder. Também porque as pessoas talvez não tenham muito o que contar...”, diz, com algum receio. Poucos dias depois desta entrevista, reencontrei José Eduardo Agualusa em meio ao tumulto literário de Paraty. Ele suava para autografar livros e mais livros comprados por neófitos impulsionados pelas palavras de Caetano Veloso sobre a obra do angolano. É um reconhecimento merecido, ainda que não tenha se estendido, parece, para além dos limites da cidadezinha histórica. • Continente setembro 2004
59
ESPECIAL
Fotos: Reprodução
60
Síntese entre o cânone e o banto A dicção poética e a narrativa ficcional angolanas extrapolam o discurso panfletário e fazem interagir os consagrados cânones literários com a expressão em línguas nacionais e língua portuguesa Maria Alice Amorim O jovem ficcionista Ondjaki transita da literatura ao cinema e às artes plásticas
O cultivo das letras em Angola remonta à segunda metade do século 19, e a leitura de clássicos franceses e portugueses ajudou a construir uma fisionomia literária particular, que adquiriu autonomia num contexto antropológico marcado pelo desencadeamento de guerras, convulsões sociais, luta contra preconceitos raciais, busca de identidade cultural. Hoje a dicção poética e a narrativa ficcional extrapolam o discurso panfletário e fazem interagir os consagrados cânones literários com a expressão em línguas nacionais e língua portuguesa. Autores brasileiros, a exemplo de Guimarães Rosa, Drummond, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz colaboram na construção desse edifício literário. Não sem esquecer, claro, de fazer a síntese com a riqueza cultural da civilização banta dos povos de Angola. O jornalista José Eduardo Agualusa, 43 anos, um dos notáveis convidados da recente Festa Literária Internacional de Paraty, Rio de Janeiro, é adepto, na escritura literária, da estética luso-tropicalista e crioula. Nação Crioula é o romance mais traduzido deste autor e está prestes a transformar-se em filme por um diretor brasileiro. O novíssimo Continente setembro 2004
Ondjaki, 27 anos, tem tido boa receptividade dos próprios trabalhos em Portugal, onde publica desde 2001 – ou seja, há apenas três anos – e já tem três livros em segunda edição naquele país. “Acho que o trabalho do escritor moçambicano Mia Couto abriu muito o caminho para a receptividade de outros escritores. Há muita presença angolana no movimento editorial português, e nomes como Pepetela e José Eduardo Agualusa têm vendas muito significativas. Vendas à parte, nomes como o de Ruy Duarte de Carvalho, Ana Paula Tavares, Luandino Vieira, Manuel Rui, João Melo, José Mena Abrantes são respeitados no mundo editorial português”, garante o ficcionista e poeta Ondjaki, que recebeu, em 2000, menção honrosa no Prêmio António Jacinto, em Angola, pelo livro de poesias Actu Sanguineu, e a partir daí contabiliza oito livros publicados nos gêneros poesia, conto, novela, romance. A versatilidade de Ondjaki extrapola os limites da escrita e passa pelas artes plásticas, cinema e teatro. Já participou de exposições individuais, inclusive no Brasil, está em antologias internacionais de poesia, fez curso de interpretação teatral em Lisboa.
ESPECIAL Jornalismo impresso – O jornalismo exerceu papel importante no florescimento e conquista de uma identidade na produção literária angolana. O Boletim Oficial de Angola, surgido em 1845, dava espaço para publicações literárias, ensaísticas e relatos de viagens pelo interior angolano. Nessa época, surgem, sob o signo da liberdade de imprensa, jornais bradando ideais libertários, sobretudo quanto à questão escravagista e à luta pela independência, em línguas africanas, em português, em kimbundo, ou mesmo bilíngüe. É sintomático, portanto, que o romance fundador em Angola, O Segredo da Morta, do escritor e lingüista Antonio Assis Júnior, tenha sido publicado em 1936, inicialmente sob a forma de folhetim, no jornal A Vanguarda. Conforme Fernando Augusto Albuquerque Mourão, no livro A Sociedade Angolana Através da Literatura, “o romance de Assis Júnior é o último grito dos homens negros da geração literária do fim do século passado” (século 19). Com o livro Nhári, o Drama da Gente Negra, publicado em 1939, o moçambicano Castro Soromenho, que viveu parte da infância e juventude em Angola, se ocupa da condição humana da África negra, passa a dominar a cena literária do romance africano de expressão portuguesa até o final da década 40 e obtém reconhecimento internacional com tradução em várias línguas. Nos anos 40 a poesia predomina sobre a ficção narrativa, é nessa década que surgem grandes nomes da poética fundadora angolana, a exemplo de Agostinho Neto e António Jacinto. Nos anos 50 e 60, a guerra de guerrilha ou guerra colonial contra o domínio português, contra a discriminação racial e em defesa de um ensino democrático, colaborou com o reaparecimento de vigorosa narrativa, com Luandino Vieira, Uanhenga Xitu, Arnaldo Santos, Manuel Santos Lima, Pepetela e Manuel Rui Monteiro. A principal característica desta geração literária é um comportamento coletivo
alicerçado no compromisso político com a causa do nacionalismo. A militância política é vivenciada por uma parcela significativa dos seus integrantes nos movimentos de libertação nacional, ou, indiretamente, no engajamento em atividades lideradas por grupos de intelectuais de esquerda da Europa. Alguns deles experimentam a dureza da prisão, como foi o caso de Luandino Vieira e Uanhenga Xitu. No livro A Geração da Utopia, o escritor Artur Pestana, conhecido pelo pseudônimo Pepetela, traça um perfil de sua geração, tratando justamente dos ideais socialistas e do desencanto dessa geração, no período pós-independência. Em 2001, Pepetela inaugura o gênero policial na literatura angolana, com a publicação de Jaime Bunda: Agente Secreto. Boaventura Cardoso, um dos ficcionistas mais representativos da geração de 70, atual ministro da cultura em Angola, testemunha vivências anteriores e posteriores à independência, em sua produção literária, associando-as ao imaginário banto e aos falares kimbundo. Dentre os narradores da geração de 80, estão Agualusa, João Melo, Rosária Silva. Na poesia angolana faz-se uma distinção de gerações, incluídas as três primeiras no regime colonial e a última no pós-independência: geração de 40, ou a geração da mensagem; geração de 50, ou geração da cultura; geração de 70, ou geração do silêncio; geração de 80, ou geração das incertezas. Com a independência política de Angola em novembro de 1975 e a adoção do pluripartidarismo, é criada nesse mesmo ano a União de Escritores Angolanos (UEA), e em tal ambiente a geração de 80 se estabelece com a publicação de livros e atividade associativa das brigadas jovens de literatura, que começou na capital do país, Luanda, expandindo-se para várias capitais de província e algumas cidades, tais como Lubango, Huambo, Lobito, Uige, Namibe. •
Ruy Duarte Carvalho (E) e Luandino Vieira: militância política e reconhecimento literário
61
Paulo Flores (D) se apresentando com o violoncelista Jaques Morelembaun
Uma voz angolana Apego às origens e coragem para inovar são a essência do projeto que o músico angolano Paulo Flores articula no seu Ao Vivo, verdadeira ponte sobre o Atlântico, a ser lançado no Brasil no final do ano Evaldo Costa
O público brasileiro vai começar a entender, nos próximos meses, o que faz de Paulo Flores um dos nomes mais importantes da música dos países africanos de língua portuguesa. Enquanto grava seu 11º álbum, o cantor e compositor angolano planeja, com redobrados cuidados e respeitosa timidez, a sua entrada no mercado brasileiro. Ocidentalizado, mas orgulhoso de suas origens Continente setembro 2004
africanas, nascido em Angola, mas criado em Lisboa, acha que sua música tem muito a ver com a que é produzida no Brasil, sincrética por definição. “Ser ouvido no Brasil é um sonho que espero que se realize, como uma conseqüência do trabalho que estamos desenvolvendo”, diz ele. Segundo o plano traçado, Paulo Flores está concluindo no Rio de Janeiro a gravação do novo disco, sob a supervisão do violoncelista Jacques Morelembaun. Flores fará no
Divulgação/Maianga
final do ano uma série de shows no Brasil, durante os quais lançará este novo trabalho – Paulo Flores ao Vivo – e o anterior – Xé Povo – inéditos na margem de cá do Oceano Atlântico. Quem organiza tudo é a gravadora Maianga, que tem sede na Bahia e filial em Luanda. Cada disco e cada canção de Paulo Flores produzem no brasileiro que já o escutou, em primeiro lugar, a curiosa sensação de que se está diante de algo, ao mesmo tempo, familiar e estranho. Discos como Xé Povo, sem que se possa negar sua nítida sonoridade angolana, tem certo jeitão de MPB. E não somente porque “É doce morrer no mar”, de Dorival Caymmi, é a primeira faixa do disco. É difícil traçar uma correspondência precisa entre Paulo Flores e alguma estrela musical brasileira. Em Luanda – como também em Lisboa – Paulo Flores é visto pela crítica como um músico refinado, como se fosse um Caetano Veloso angolano. Ao mesmo tempo, é celebrado pelas massas como um artista muito popular, um campeão de execução nas rádios, tipo Ivete Sangalo. É político como Chico Buarque, mas nunca panfletário. Sua canção “Makalakato” tem força tão sutil que toca repetidamente nas rádios estatais, mesmo
ESPECIAL sendo considerada uma espécie de “Apesar de você” africano, crítica enérgica ao regime e ao próprio presidente angolano, José Eduardo dos Santos. Atento ao que se costuma designar como “angolanidade”, Paulo Flores não se fecha ao que vem de fora e até se orgulha das influências que recebe e das misturas que promove. Reage com energia a comentários sobre um suposto desenraizamento do seu trabalho, principalmente quando surgem no estrangeiro, como ocorre com certa crítica portuguesa: “Todo mundo mistura, mas só nós, africanos, estaríamos impedidos. É como se a nós só restasse viver de tanga. E eu não concordo com isso”. Muito jovem ainda – tem somente 32 anos –, Paulo Flores já é um veterano na música. Sua carreira artística começou em Lisboa, quando, adolescente, atuava como bailarino de um grupo musical que servia de inspiração para angolanos, moçambicanos e guineenses que viviam na Europa, forçados a migrar por razões políticas ou por falta de oportunidades em seus países. “Eu morava em Lisboa desde os três anos de idade e vinha a Luanda somente nas férias. Mas havia naquele ambiente uma preocupação muito grande com a preservação das nossas raízes culturais que se manifestava na música, na comida (os funjis de domingo) e no cultivo das línguas ancestrais. Se tivesse vivido toda a vida aqui, talvez não me sentisse tão africano”, lembra Paulo Flores. E não era só. Havia também a consciência dos problemas sociais de Angola, um país mergulhado numa guerra civil que parecia perpétua e consumia quase toda a energia do povo. Assim como havia, num caldeirão musical em permanente ebulição, o contato entre as diversas músicas africanas – moçambicana e cabo-verdiana, principalmente – e a música brasileira. “A gente não apenas ouvia, como tocava e cantava músicas de Alcione, Caetano Veloso, Chico Buarque”, recorda. “Estes sons e estas idéias formaram a minha personalidade”. Paulo Flores tinha 16 anos quando gravou, nos Estúdios da Rádio Nacional, em Luanda, seu primeiro disco, Kapuete Kamundanda, sucesso instantâneo em Portugal e em Angola e, até hoje, trilha sonora daquela geração. “Está tudo ali. E é incrível como, ao ouvir hoje, percebo que já falo de coisas que eu tinha a impressão que só teria descoberto muito tempo depois”. Naquele, como nos discos que se sucederam, Paulo Flores tem como temas constantes o cotidiano luandense, os sofrimentos provocados pela guerra, a beleza do país, a denúncia dos preconceitos e o amor à vida. Também fala do amor romântico, mas com muito menor freqüência. Nunca deixa de inserir palavras, versos e até canções inteiramente Continente setembro 2004
63
64
ESPECIAL escritas na língua kimbundu, falada pelas populações de Luanda e arredores, de onde é originário o ramo materno da família de Paulo Flores. Mas não esconde: precisa de ajuda “dos mais velhos” para fixar o que pretende dizer na língua nativa dos avós. De fato, o português é sua língua. O acento político, por vezes duramente crítico, decorreria da própria consciência de cidadão e de uma pulsão natural, que diz não saber muito bem de onde vem. “Penso que estar mergulhado na realidade do meu país torna qualquer um crítico. São tantos e tão graves os problemas que eles emergem naturalmente na minha música. E seria impossível contornálos”. Rejeita, todavia, a crença numa militância política à qual o artista estaria obrigado: “A minha única obrigação é ser sincero com meus sentimentos e com a minha música”. Do ponto de vista puramente musical, predominam, no repertório de Paulo Flores, os ritmos caracteristicamente angolanos, sobretudo o semba, que tem a mesma origem do nosso samba e mistura a kizomba africana e o zouk caribenho. Aliás, a popularização do semba é, em grande medida, contribuição de Paulo Flores, que emprestou seu prestígio ao resgate de um gênero musical fora de moda. Apego às origens e coragem para inovar, portanto, são a essência do projeto que Paulo Flores articula no seu Ao Vivo, verdadeira ponte sobre o Atlântico. Gravado no cineteatro
Karl Marx, a mais importante casa de espetáculos de Luanda, o disco conta com um elenco multinacional. O violoncelo de Jacques Morelenbaum, a guitarra de Joathan Nascimento e os metais de Serginho Trombone são a contribuição brasileira. A voz – e o dialeto crioulo – de Tito Paris são o toque do povo de Cabo Verde. De Portugal vieram João Ferreira e Cirio Bertinho. Jaques Morelembaum ficou entusiasmado com a experiência. “Eu nunca tinha ouvido nada de Paulo Flores, até receber o convite para o trabalho. Mas quando me vi no palco, em meio a todos aqueles músicos maravilhosos, fiquei absolutamente encantado. Não era só a música que me parecia familiar. Era a platéia, que reagia exatamente como sinto uma platéia brasileira reagir”, comenta. Evidentemente, não faltam músicos angolanos no trabalho. A produção arregimentou os nomes mais sonoros da música local da atualidade, do moderníssimo rapper e DJ Dog Murras ao veterano Carlos Burity, que canta canções angolanas com jeitão de seresteiro brasileiro. Também participa a banda Maravilha, espécie de velha guarda da Portela, e o grupo tradicional Kituxi, que produz uma música muito próxima da que se fazia antes da chegada dos colonizadores portugueses. •
Entre a aldeia e o mundo Divulgação
Como ocorre em qualquer país periférico, o debate cultural em Angola acaba por ser marcado pela discussão entre os críticos da assimilação das influências externas e aqueles que consideram estreito demais um projeto que só valida uma produção firmemente ancorada nas raízes nacionais. O espaço que a música angolana tem nas rádios do país é um dos pontos centrais destas discussões, assim como é debatido o papel desempenhado pelos artistas angolanos com renome internacional. Para uns, eles deveriam ter um ativismo não apenas cultural, mas também político, influenciando os rumos do país. Para outros, os artistas são manobrados pelos políticos, comprometendo sua arte. Em meio a estes questionamentos, cinco ou seis artistas angolanos brilham no exterior. Nesta situação, além de Paulo Flores, podem ser citados artistas como Bonga e Waldemar Bastos, os quais lotam casas de espetáculos em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, sempre apresentando uma música que não rejeita as influências, mas não perde um contato com o país de origem.
Divulgação/Maianga
ESPECIAL
“Todo mundo mistura, mas só nós, africanos, estaríamos impedidos. É como se a nós só restasse viver de tanga. E eu não concordo com isso”
Entre os citados, Waldemar Bastos é o mais reconhecido. Em Portugal e na França é colocado no mesmo patamar da musa cabo-verdiana Cesária Évora. Dos três, é o que vive há mais tempo no exterior. Seu principal trabalho, o CD Pretaluz, foi produzido pelo americano abrasileirado Arto Lindsay, para o selo Luaka Bop, que David Byrne mantém para divulgar a chamada World Music. Bastos combina elementos africanos – não exclusivamente angolanos – com guitarras do fado e uma certa “pulsação brasileira”. A segunda estrela mais renomada é Barceló de Carvalho, o Bonga, que vive entre Lisboa e Paris. Nascido em 1942, Bonga tem a vida mais movimentada entre todos. Estudou e foi atleta em Portugal, campeão nacional dos 400 metros rasos. De volta a Angola, participou com sua música na luta pela independência da então colônia. Canta em português, mas tem muitas canções na língua nativa kimbundu, que considera fundamental preservar. Alerta, numa letra, que “os estrangeiros querem tomar nossa terra / Cuidado”. Mas não teme as influências, principalmente da música brasileira. “Sonho ir ao Brasil e trabalhar com músicos como Carlinhos Brown”, disse numa entrevista.(E.C.) •
Divulgação
Acima, Bonga. Na página anterior, Waldemar Bastos
65
66
CINEMA
Cine portenho contra-ataca
O Premiado e reconhecido internacionalmente, o novo cinema argentino explode em número de produções, mas tem de brigar com Hollywood para ocupar as telas Mariana Camarotti, de Buenos Aires Continente setembro 2004
cinema argentino deixou para trás os filmes discursivos, a retórica demasiada que cultuava outrora e a temática óbvia do tango ou dos desaparecidos durante a ditadura militar. O texto baixou o tom e passou a ser o que se fala na rua. As histórias contadas não têm nada de fantasiosas e são, em geral, as de personagens urbanos e com menos de 40 anos. Uma verdadeira reviravolta nos últimos tempos, mais precisamente a partir da segunda metade da década passada. Enquanto se profissionalizava, o cinema argentino tornava-se mais independente, apostando em projetos mais autênticos. Hoje, mais maduro e confiante nos recentes sucessos, vive o seu melhor momento. E tanto que tem sido uma das grandes revelacões nos principais festivais internacionais dos últimos anos, recebendo prêmios ou indicações no de Cannes, Veneza e Berlim, entre outros. No Brasil, onde pouco se conhece a sétima arte do país vizinho e o único filme exibido no circuito nacional foi O Filho da Noiva, o cineasta Walter Continente nº 41) que a cinematografia argentiSalles disse recentemente (C na é o que há de melhor no mundo nos dias de hoje. E repetiu os elogios no festival de Cannes, em maio passado. Exagero ou não, de Salles, o certo é que a produção argentina subiu muitos degraus de qualidade, ganhando zelo nas tomadas da imagem, roteiros criativos e bem-amarrados, edição cuidadosa e argumentos sedutores. “Uma geração de oito a 10 diretores com menos de 30 anos saía da escola de cinema em 1995 e 1996, e começou a mudar o que existia naquele momento. Hoje, esses diretores estão em sua segunda ou terceira produção, fazendo um trabalho mais autêntico e sem explorar temas pitorescos”, diz Diego Lerner, crítico do mais importante jornal argentino, Clarín. Ele compara a mudança com movimentos em outros países, como o Cinema Novo no Brasil e o neo-realismo na Itália. As crises política e econômica recentes na Argentina fizeram com que, na opinião de Lerner, a
CINEMA
67
Fotos: Divulgação
Luna de Avellaneda, do diretor Juan José Campanella (D): mesmo sendo visto por mais de 900 mil espectadores, o filme teve de ceder salas para Tróia
onda de valorização da indústria nacional alcançasse o cinema. E também fizeram com que o mundo prestasse mais atenção no que é feito neste momento no país do tango. Nos últimos anos, enquanto no Festival de Berlim o filme La Cienaga era eleito a melhor obra prima e El Abrazo Partido era apontado com o segundo prêmio, La Quimera de los Heroes recebia o segundo prêmio de melhor filme no Festival de Veneza, Valentín participava do Oscar e La Niña Santa, de Cannes. Extraño era nomeado melhor filme no Festival de Roterdã (Holanda) e Tan de Repente ganhava o prêmio de melhor filme em Locarno (Suíça). Outros grandes ganhadores foram Histórias Mínimas e o O Filho da Noiva, com mais de 40 títulos. A produção nesse país é enorme e chega a assemelhar-se com o que acontece na Europa: muitos filmes são feitos e nem chegam a estrear, por falta de salas. Alguns estreiam, mas fora da Argentina. Uma lei de incentivo garante verbas para a indústria, gerando uma grande quantidade de títulos feitos ao mesmo tempo. Entre 50 e 60 títulos estão sendo filmados este ano. O espantoso quantitativo para um país de cerca de 38 milhões de habitantes não fica apenas na produção. “Há mais estudantes de cinema em Buenos Aires que em toda a comunidade européia. São 15 mil pessoas. Vivemos o auge das escolas de cinema, o que fez com que o nível subisse”, diz o cineasta Juan José Campanella, diretor de O Filho da Noiva, filme argentino de maior sucesso de bilheteria dentro e fora do país. No cinema, foi visto por 1,8 milhão de pessoas na Argentina, 1,6 milhão na Espanha e 500 mil brasileiros, sem contar as que o assistiram em vídeo e DVD. Também do reconhecido Campanella é o mais recente êxito da grande tela no país vizinho: Luna de Avellaneda. O filme, que de maio a julho havia sido visto por cerca de 900 mil pessoas na Argentina, terá lançamento mundial no Festival de Valladolid, Espanha, em outubro. O novo trabalho já foi vendido a vários países da América Latina e Europa. Chega às salas brasileiras no próximo ano.
A produção argentina subiu muitos degraus de qualidade, ganhando zelo nas tomadas da imagem, roteiros criativos e bem amarrados, edição cuidadosa e argumentos sedutores
Continente setembro 2004
68
CINEMA Luna de Avellaneda traz a história de um clube de bairro social, desportivo e cultural com esplendor nos anos 40 e que se encontra em total decadência. Enquanto o que pagam os sócios não cobre os custos nem as dívidas, a direção do clube e seu vitalício presidente tentam salvar a instituição da falência. Um debate entre a ética, o amor e a racionalidade se instaura, quando a solução para a falta de verbas aparece: uma proposta de venda do clube Luna de Avellaneda a um cassino. Os sócios e moradores dos arredores – desempregados, com a decadência das indústrias locais –, com o passar dos anos, seriam empregados pelo cassino. Então, começa a briga pela venda e pela manutenção do clube, sem deixar de lado a vida particular dos personagens e o humor ao estilo italiano, característico das producões de Campanella. A mesma dupla que faz outros dois filmes desse diretor – O Filho da Noiva e O Mesmo Amor, a Mesma Chuva – protagonizam também Luna de Avellaneda. Ricardo Darín e Eduardo Blanco formam um par entrosado, em que o primeiro sempre faz o personagem principal e dramático, enquanto o segundo junta o drama com o humor. Uma receita que, mais uma vez, deu certo.
“É um belo filme e que adorei fazer. Quando eu me sento em uma poltrona e me contam uma história com muito humor e que me faz refletir, isso me deixa contente e eu saio do cinema satisfeito. E é isso o que acontece com Luna de Avellaneda.”, diz Eduardo Blanco. Uma marcante característica da produção argentina é a variedade. Numa mesma temporada, é possível ver em cartaz filmes que nada têm a ver um com o outro. Os estilos são muitos, passando da comédia italiana e comovente bem ao estilo de O filho da Foiva a películas de personagens simples do interior como os de Histórias Mínimas ou, ainda, às de diálogo árduo e cenas mais complexas, como a recente La Niña Santa. Filmes de suspense, ação ou policial não são o forte da cinematografia argentina, com pouquíssimas exceções, a exemplo de Nove Rainhas. O que se poderia dizer que há em comum na maioria dos títulos é a sensibilidade das histórias, que em geral toca a quem assiste, sem derivar para um apelo vulgar. Falar de gente e contar a vida como ela é, mesmo, fazem com que o público, nacional ou internacional, identifique-se com as películas. Assim aconteceu com Valentín, um dos grandes sucessos do ano passado e que foi indicado ao Oscar deste
Entre 50 e 60 títulos estão sendo filmados este ano. Há mais estudantes de cinema em Buenos Aires que em toda a comunidade européia. São 15 mil pessoas
El Abrazo Partido, de Daniel Burman: Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim
Fotos: Divulgação
Memorial del Saqueo, de Pino Solanas, também arrebatou o Urso de Prata em Berlim
As crises política e econômica recentes na Argentina fizeram com que, na opinião de Lerner, a onda de valorização da indústria nacional alcançasse o cinema. E também fizeram com que o mundo prestasse mais atenção no que é feito, neste momento, no país do tango ano. Inspirada na vida do seu diretor, Alejandro Agresti, Valentín é a história de um menino de apenas nove anos, abandonado pelos pais e que tenta organizar sua família. Entre os sonhos de ser astronauta e chegar à lua, a partir de uma espaçonave imaginária, na banheira de sua casa, o solitário e sensível protagonista se faz de gente grande, cuida da avó e serve de cupido para o pai, no dia em que ele decide aparecer. O filme foi o que levou o maior número de prêmios no Festival Cordor da Prata, realizado pela Associação de Cronistas Cinematográficos da Argentina, entre eles o de melhor filme e de revelação masculina, para o pequeno Rodrigo Noya. Ainda que os argentinos estejam vendo muito mais filme nacional atualmente, que nas décadas passadas, é no exterior e entre os críticos que o cinema argentino é mais reconhecido, segundo consenso entre atores, críticos e diretores. Falta uma maior empatia e comparecimento do público às salas, assim como ocorre na maioria dos países latinoamericanos e sem condições de concorrer com os filmes norte-americanos. A indústria cinematográfica luta contra o gigante hollywoodiano que, com uma forte divulgação, promoção e lobby, ocupa salas em que estão filmes locais com bom resultado de bilheteria.
Esse problema era antigo e ninguém dava bola, pois os prejudicados eram filmes de menor alcance e de diretores pouco conhecidos. Até que aconteceu com Luna de Avellaneda. Este filme, apesar de estar em primeiro lugar na venda de entradas, perdeu salas para Tróia e, em seguida, para Harry Potter e O Homem-Aranha. Um grande debate formou-se no setor e entre pessoas interessadas, pressionando o governo federal para a criação de uma lei que dê instrumentos para o cinema nacional competir com os lançamentos importados. Atores e diretores defendem algum tipo de proteção à produção local, resguardando um tempo mínimo de exibição, mantendo-a em cartaz de acordo com a venda de entradas e a média de ocupação de poltronas por sessão e criando uma cota de salas por filme. Assim acontece na França e na Coréia, por exemplo, impulsionando a produção local. Enquanto não se criam uma política de proteção ao cinema nacional e uma melhor distribuição interna e no exterior, países com produção independente e de qualidade continuarão perdendo espaço para os hollywoodianos e sendo desestimulados. E mais: o que é feito nos países vizinhos da América do Sul passa despercebido entre homens-aranhas e meninos-bruxos do sonho norte-americano. • Continente setembro 2004
Marcos Mendes/AE
70
CINEMA
O cineasta LĂrio Ferreira
Gilvan Barreto/Lumiar/Divulgação
CINEMA
Filmagens de Árido Movie, no Vale do Catimbau
Sertão e samba sem muito lero-lero O cineasta pernambucano Lírio Ferreira toca dois projetos de peso: volta ao Sertão nordestino no seu novo filme Árido Movie e, paralelamente, produz um documentário sobre a vida de Cartola Alexandre Figueirôa
O
s meninos e meninas de Pernambuco são mesmo uns danados. Apesar dos obstáculos, insistem e persistem em fazer cinema. Lírio Ferreira é um deles. Com dois filmes em fase de finalização – o longa-metragem de ficção Árido Movie e o documentário Cartola, este dirigido em conjunto com Hilton Lacerda –, Lírio reparte seu tempo entre São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, ora correndo atrás de recursos, ora metido nos laboratórios e nas ilhas de edição. Apesar da ansiedade que caracteriza sua índole inquieta, ele garante estar tranqüilo com relação a estes novos trabalhos, sobretudo Árido Movie, cuja previsão de lançamento é 2005. Com ele, Lírio volta ao Sertão nordestino, de onde saiu o seu primeiro curta-metragem, O Crime da Imagem, e também o já histórico Baile Perfumado, filme que realizou com Paulo Caldas e causou um forte impacto no cinema brasileiro da última década do século passado. “No momento, eu prefiro me distanciar de qualquer tipo de expectativa, ela só viria me atrapalhar e me tirar do foco. Espero sair da primeira projeção dos filmes com esse mesmo pensamento”, revela com firmeza o cineasta. Os anos de iniciação na carreira devem ter dado a Lírio a calma que ele realmente precisa para tocar, ao mesmo tempo, dois projetos de peso. Do inevitável curso de Comunicação no Recife, no início dos anos 80, caminho quase incontornável dos que escolhem ser produtores de audiovisual por estas bandas, até chegar às cidades do agreste pernambucano onde montou o set de filmagem de Árido Movie, nos primeiros meses de 2004, Lírio, seguindo os passos de outros de sua geração, aprendeu a fazer cinema na marra. Integrou o Van-retrô, grupo do qual fez parte Adelina Pontual, hoje também cineasta; Samuel Paiva, atualmente professor e pesquisador de cinema; e Valéria Ferro, agora técnica Continente setembro 2004
71
72
CINEMA de som e considerada pelo próprio Lírio uma das melhores do país. “Naquela época tentamos realizar um curta chamado Biudegradável e mudar o mundo. Passamos quase um ano discutindo um argumento meu e concluímos nosso primeiro roteiro coletivo. Infelizmente, não conseguimos realizálo, mas além das conversas sobre sexo e drogas, demos o primeiro passo para despertar o interesse em poder fazer cinema”, relembra Lírio. Mas quem o levou para a realização foi Paulo Caldas que era da mesma turma e já fazia produções amadoras em Super 8. Com Paulo, Lírio estreou em 1985 como continuísta e still em O Bandido da Sétima Luz. Em seguida, foi assistente de direção de Cláudio Assis no curta Henrique? e, pouco depois, escreveu, junto com Solange Rocha e Sandra Arraes, o roteiro de Chá, dirigido por Paulo Caldas, quando também ficou responsável pela continuidade. A partir daí não parou. Dirigiu programas para a televisão, fez vídeos experimentais para a Companhia de Dança Cais do Corpo – da bailarina Maria Eduarda, com quem foi casado por oito anos e tem uma filha chamada Júlia – e ensaiou seus primeiros videoclipes. Em 1992, lançou o seu primeiro curta-metragem, O Crime da Imagem, um projeto sobre as origens de Antônio Conselheiro, mas que levou cerca de quatro anos para ser concluído, pois coincidiu com a fase negra em que o cinema brasileiro mergulhou por causa da extinção da Embrafilme. Depois de uma temporada em Londres, voltou ao Recife e rodou That’s a Lero-Lero, com Amin Stepple. O filme refaz um passeio real-imaginário da visita de Orson Welles ao Recife e, segundo o próprio Lírio,
foi um marco na sua trajetória. “Com Paulo eu aprendi a fazer filmes e com Amin eu aprendi a pensar cinema”. O resultado deste crescimento foi devidamente registrado em Baile Perfumado, lançado em 1996. O filme, feito em parceria com Paulo Caldas, deu notoriedade ao cinema moderno de Pernambuco e conquistou o prêmio de Melhor Filme do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os méritos da obra são inegáveis, não só pelo fato de ter sido o primeiro longa-metragem genuinamente pernambucano, depois de quase cinco décadas, mas também por refletir, de certa forma, uma renovação da cinematografia regional. Agora com Árido Movie, Lírio está exercitando com plenitude esta trajetória. O título do filme nasceu da expressão criada há alguns anos por Amin Stepple, quando eles faziam That’s a Lero-Lero. Segundo Lírio, “a marca árido movie e as suas variantes e interseções estéticas serviam de munição para, ao mesmo tempo, discutir pontos convergentes de nossa maneira de produzir cinema e criar uma mítica de tudo aquilo que nos cercava. O título de meu novo filme é uma homenagem àquele momento que, espero, não se torne único”. Árido Movie é um road-movie sobre falta d’água e excesso de informação. O roteiro foi premiado pelo MinC e feito a oito mãos: as do próprio Lírio e mais a ajuda de Hilton Lacerda, Sérgio Oliveira e Eduardo Nunes. O produtor e diretor de fotografia é o cineasta Murilo Salles. Foi rodado em super-35 mm – terá então uma ampliação ótica anamorfizada, ou seja, na projeção a imagem ocupará toda a tela – e o som é dolby digital 5.1. Lírio explica que o filme é marGilvan Barreto/Lumiar/Divulgação
Selton Melo grava cena de Árido Movie, em Custódia
Continente setembro 2004
CINEMA Divulgação/Rio Filmes
"Acho o Sertão o grande cenário profundo do Brasil. Toda vez que mergulho nele algo novo desperta em mim: o inóspito, o misterioso, a secura, a cor, as pessoas. Às vezes, sinto que estou num país distante e, no entanto, ele está tão próximo. Isso me atrai"
O Baile Perfumado: filme marcante de Lírio Ferreira e Paulo Caldas Gilvan Barreto/Lumiar/Divulgação
A modelo Suyane Moreira durante as filmagens de Árido Movie
cado por suas memórias e também dos outros roteiristas, pelas pessoas com quem eles conviveram e o meio onde foram criados. Ele esclarece: “Acho o Sertão o grande cenário profundo do Brasil. Toda vez que mergulho nele algo novo desperta em mim: o inóspito, o misterioso, a secura, a cor, as pessoas. Às vezes, sinto que estou num país distante e, no entanto, ele está tão próximo. Isso me atrai”. A trama desenvolve-se em torno de Jonas, nascido na fictícia cidade de Rocha, que, primeiro, migra para o Recife e, depois, para São Paulo onde se torna o homem do tempo de uma rede nacional de TV. Ao ter o pai assassinado, Jonas volta para a terra natal e, com o estímulo da avó, parte para a vingança. Mas quem empresta o clima a este enredo é realmente a escassez de água, uma questão que Lírio afirma ser, hoje, um problema além de qualquer limite geográfico. A água é usada como arma política, é fonte de poder econômico e até espiritual, pois no filme existe uma seita usando a água para purificar os seus seguidores. Esta parte da estória é inspi-
rada num personagem real, um líder místico chamado de Meu Rei, morto em 1999, na região do Vale do Catimbau, onde criou a Fazenda Metafísica e Teológica Princípio de um Reinado, e lá armazenava água num palácio. O elenco é composto por nomes como José Celso Martinez Correa, Renata Sorrah, José Dumont, Giulia Gam, Aramis Trindade, Guilherme Weber, Matheus Nachtergaele, Luiz Carlos Vasconcelos, Magdale Alves, Selton Melo e Paulo César Pereio. Já o documentário Cartola é, nas palavras do próprio Lírio, “um filme de montagem e um caleidoscópio da vida e obra do grande mestre”. Por ser conduzido por dois diretores (ele faz parceria com Hilton Lacerda), tudo vem sendo discutido exaustivamente. Tal postura é imprescindível para a compreensão da totalidade do resultado. Lírio adianta que o filme deve estar despertando curiosidade, afinal são dois pernambucanos debruçados sobre um carioca e um dos maiores compositores de samba que já existiu. “O projeto nasceu para isso mesmo, um olhar distanciado, ou mesmo externo, da realidade carioca. E é isso que propomos e estamos fazendo. É uma obra aberta a todo tipo de experiência”. Captado em vídeo digital para ser transferido para película cinematográfica, o filme deverá refletir a bagagem de Lírio como realizador de videoclipes. Ele afirma já ter feito em torno de 35, com os artistas mais variados – desde Bubuska Valença e Toinho de Alagoas, lá pelos inícios dos anos 90, passando por Otto, Zé Ramalho, Chico César, Kid Abelha, Elba Ramalho, e até Chitãozinho e Xororó. Esta diversidade traduz a própria postura de Lírio diante da imagem em movimento. “Eu respeito todas as faces e possibilidades de fazer cinema, todavia o que mais me interessa é levar o espectador a sair da morosidade. Levá-lo a sonhar, mas, ao mesmo tempo, a refletir sobre a realidade, cedendo a cara para a gente poder bater. Enfim, um cinema aberto a novas experiências, tanto estéticas quanto existenciais. Sempre me identifiquei com movimentos e cineastas que estão na contramão do usual e do óbvio. Aprecio a diferença, a inquietude e os sonhos”. • Continente setembro 2004
73
Anúncio
Anúncio
76
HISTÓRIA
Fotos: Reprodução
Rommel comandando divisão de tanques na Líbia, em 1941
O fim de Rommel Os dramáticos momentos finais do aristocrático oficial germânico que ousou confrontar Adolf Hitler Fernando Monteiro
HISTÓRIA
Q
uem foi o mais brilhante dos generais da Segunda Guerra Mundial? A pergunta vai respondida não por mim, mas por consenso geral entre os historiadores militares: o mais hábil comandante de tropas do grande conflito não foi nenhuma das estrelas aliadas (Patton, Montgomery, Zhukhov, Bradley) e, sim, um marechal-de-campo com a cruz suástica na túnica impecável. Seu nome: Erwin Rommel, herói do III Reich, o mesmo homem “suicidado” por ordem de Adolf Hitler, há exatos 60 anos, na estrada de Ulm, Alemanha. É uma longa história. O legendário comandante do Afrika Korps ganhou a admiração até dos inimigos, nos campos de batalha da França, da Polônia e do Egito. Nascido em 1891 (Heidenheim), foi combatente na Primeira Guerra e permaneceu um profissional da guerra o tempo todo – sem ter seu nome associado às atrocidades cometidas pelo regime do Führer. Depois que o exército germânico foi reorganizado pelos nazistas, a folha excepcional de serviços de Rommel superou, inclusive, o fato “desabonador” de não ter ficha de inscrição no Partido Nacional Socialista. Leal à pátria até o fim da vida, ele nunca preencheu o documento subscrito por todos os generais bajuladores dos bunkers de Hitler, até porque, alemão bem nascido, Rommel antipatizava com o ditador arrivista e, em 1944, viria a participar da conspiração conhecida como “Operação Walquíria”... Bem, isso é ir mais rápido do que as divisões panzer do marechal. Primeiro, vamos à carreira invejável desse militar que se cobriu de glória em maio de 1940, como comandante
da 7ª Divisão blindada, avançando, lepidamente, pelos campos da França (foi lá que testou a eficácia da blitzgrieg). Dois anos depois, Rommel se tornaria uma legenda à frente dos carros de combate que chegaram a menos de 100 quilômetros de Alexandria. O apelido que lhe deram – “Raposa do Deserto” – ganharia mundo, como um símbolo de astúcia e do talento para a improvisação. No comando do Afrika Korps, não foram poucas as vezes em que logrou dar, ao inimigo, a impressão de estar chefiando forças muito mais poderosas do que dispunha realmente. Uma das suas táticas consistia em colocar todos os veículos disponíveis em movimento de vai-e-vem, durante a noite, de maneira a sulcar o deserto num raio de quilômetros. O general sabia que o efeito seria vantajoso – quando os aviões ingleses viessem fotografar as linhas alemãs, de manhã cedo, encontrando as marcas de centenas de tanques, cuja “quantidade” faria desacreditar outras informações da espionagem, com a costumeira mudança de planos do previsível general Bertrand Montgomery. Com o avançar da ação na frente africana, Rommel foi perdendo seus tanques e chegou a ordenar um ataque com apenas seis deles. “Ataquem com a poeira!” – foi a ordem que deu, e a batalha entrou para os anais da guerra porque os seis escassos veículos alemães começaram a se mover em círculos e, cobertos por imensa nuvem de pó, avançaram contra os ingleses, imaginando-se atacados por toda uma afoita divisão de panzers... A “Operação Walquíria”– Depois da África – e já elevado a marechal –, Rommel percebeu que o homem de
77
78
HISTÓRIA Rommel era da opinião de que Hitler deveria ser preso quem recebera a alta patente era pouco mais do que um louco “com limitada experiência de guerra”. Mais do que por algumas unidades de absoluta confiança, até ser julgado isso: um tal tipo de líder (e comandante-em-chefe) estava por um tribunal de Berlim, de maneira “a evitar a criação de levando a Alemanha ao completo desastre, maldefendida um mártir na pessoa do Führer assassinado sumariamente”. por um exército tão valente quanto carente de armas, com- Nesse ponto, ele não conseguiu a concordância dos colegas bustíveis e suprimentos. Com o bastão de marechal na mão, conspiradores, que pretendiam “remover” Hitler de forma tivera a ousadia de expressá-lo ao Führer, com a recomen- definitiva, primeiro. Dá-se, então, o desembarque aliado na Normandia, e as dação da “retirada das tropas alemãs, antes do final do ano” (1943). A temeridade e a franqueza levaram Hitler ao pa- coisas se precipitam em 15 de julho de 1944, quando o roxismo, despejando perdigotos bem próximo do rosto de marechal se mostra capaz da maior das ousadias: resolve enRommel: “Fique sabendo, marechal, que o Reich só reco- viar uma espécie de “ultimato” a Hitler, no qual exigia que se abrisse um canal de negociações para o armistício. Dois nhece dois caminhos: a vitória ou a morte!”. A afoiteza de usar a palavra-tabu (“retirada”) foi engo- dias depois, nas proximidades de Livarot, dois aviões – com lida, talvez, somente pelo fato de ter sido pronunciada em insígnias britânicas – metralham o carro do herói do Reich, conversa particular, por um militar que Hitler sabia ser um mergulhando em vôo picado sobre ele. Caído na estrada, gênio da estratégia e dono de um prestígio tal que fora cha- Erwin Rommel ficou tão gravemente ferido (fratura no crâmado de volta a Berlim, com o intuito de poupar o herói do nio, olho esquerdo afetado, maxilar partido) que os médicos desgaste da rendição (a qual, de fato, aconteceu em Túnis, chegam a duvidar da sua sobrevivência. Estranhamente, jamais se encontrou menção, nos arquivos da RAF, de qualem maio de 1943). Rommel guardou o quadro da reação demente do chefe quer ataque isolado, no dia 17 de julho, a um carro rodando supremo e, acima de tudo, ficou chocado com aquela disposição de levar a Alemanha para a destruição – caso não fosse Rommel era de opinião de que Hitler deveria ser preso e possível obter uma vitória mais do que julgado por um Tribunal de Berlim, de maneira a evitar a duvidosa aos olhos da “Raposa do Desercriação de um mártir na pessoa do Führer assassinado to” e de alguns generais do Wolfschanze (o quartel-general situado em Rastenburg, na Prússia Oriental). Uma frase sua revela o tamanho pela estrada de Livarot (carro este que conduzia ninguém da decepção, não só com a pessoa de Hitler, mas com o staff menos que a “Raposa do Deserto”)... que fazia coro com os delírios hitleristas, no Covil do Lobo: A morte de Rommel – No dia 20 de julho de 1944, “Fiz a guerra com decência, mas essa gente manchou a enquanto o marechal lutava contra a morte num hospital da minha farda.” Nomeado comandante das forças que defenderiam a França, a “Operação Walquíria” iria fracassar, no seu Normandia contra a invasão, o marechal se aproximaria, em primeiro passo, como atentado contra a vida do Führer, abril de 1944, do governador militar da França, o aristocrá- através de uma bomba colocada – pelo coronel conde von tico general Karl Heinrich von Stülpnagel – um dos líderes Stauffenberg – debaixo da mesa de reuniões do Estadosecretos da nascente resistência ao regime, nos círculos mais Maior. O artefato explodiu a dois metros do ditador, feriu seletos da oficialidade alemã não-criminosa. Juntos, conce- vinte homens e matou quatro. Hitler escapou com feriberam um plano de derrubada do nazismo, como pré-re- mentos leves, porém enlouquecido de ódio e concentrado quisito para tentar negociar a paz em termos mais favoráveis em punir com a morte os conspiradores, seus amigos e do que uma rendição incondicional que poria a Alemanha pessoas relacionadas com eles. O marechal-de-campo de novo de joelhos, “no máximo em um ano” (nada mais Erwin Rommel era um dos nomes que encabeçava a lista, preciso). Basicamente, tratava-se de propor aos aliados a mas foi deixado, de momento, sob vigilância no hospital, retirada das tropas alemãs dos territórios ocupados em troca para a lenta preparação do dia 14 de setembro – quando, já do fim imediato do bombardeio maciço às cidades alemãs, restabelecido (ele ficara apenas com uma paralisia parcial já iniciado. No Leste, seria mantida uma frente de combate do olho esquerdo), chegou a notícia, na sua vila de contra a Rússia (embora bem menos extensa), “em defesa Herrlingen, de que seria visitado pelo general Burgdorf, a caminho de Ulm. da civilização ocidental”. Continente setembro 2004
HISTÓRIA sobre os minutos finais de Rommel, disseram ter recebido ordens de abandonar o carro por um momento, encontrando, ao regressarem, o marechal já agonizante. Aos funerais promovidos pelo Estado, em 17 de setembro, compareceram, contritas, as mais altas patentes militares e as principais personalidades do partido nazista. A oração fúnebre foi pronunciada, em nome do Führer, pelo marechal-de-campo von Rundstedt. Frau Rommel, pálida e abatida, recusou o braço que este lhe ofereceu. Uma tensão incrível envolvia aquela farsa bem ensaiada. Entretanto, poucos, dentre os presentes, sabiam que estavam assistindo à ultima cena de um assassinato.” •
Rommel, a “Raposa do Deserto”: fim induzido por Hitler
Corbis
O que se passou em seguida, ficou descrito, para a história, pela condessa Waldeck, amiga da família Rommel: “Pouco depois do meio-dia, chegou o enviado de Hitler, em companhia do general Maisel. O marechal, sua esposa e o filho Manfred, de 16 anos, cumprimentaram os visitantes que beijaram, cerimoniosamente, a mão de frau Rommel. Depois de trocadas algumas frases formais sobre a amenidade do clima e o esplêndido restabelecimento do marechal, frau Rommel e Manfred se retiraram. Uma hora depois, Rommel subiu ao quarto da esposa. ‘O que está acontecendo?’, ela perguntou, vendo o semblante grave do marido. ‘Dentro de 15 minutos estarei morto’, respondeu ele, meio absorto, embora preciso. Rapidamente, o marechal contou o que Burgdorf lhe informara: sob tortura, Karl von Stülpnagel havia relatado a participação de ambos na conspiração. Stülpnagel já estava morto (estrangulado), porém o Führer havia decidido ocultar do povo alemão o fato de o general mais popular dos seus exércitos ter ousado conspirar para derrubá-lo e fazer a paz. Por isso, oferecia a Rommel a ‘chance’ de cometer suicídio, após o que sua mulher e o filho iriam receber todas as honras e pensões a que tinha direito um marechal-de-campo alemão que não tivesse ido a julgamento sumário e desonroso, como traidor do Reich... Com frieza, Burgdorf descreveu os menores detalhes da proposta. A caminho de Ulm, dariam ao marechal certa dose de veneno; três segundos depois, estaria morto. O corpo seria conduzido a um hospital próximo, enquanto um despacho oficial levaria ao mundo a notícia de que Erwin Rommel falecera subitamente, ainda em consequência dos ferimentos recebidos em 17 de julho. Rommel se despediu da mulher – como se fosse sair para o trabalho – e permitiu que Manfred e seu ajudantede-ordens (capitão Aldinger) lhe ajudassem a vestir o sobretudo, após o que calçou as luvas e pôs o quepe com o garbo de sempre. Com o bastão de marechal firmemente seguro, dirigiu-se para o automóvel onde o aguardavam seus dois colegas, um tanto nervosos. Às 13h25, Burgdorf e Maisel fizeram a entrega do cadáver de Rommel ao hospital de Ulm. O médico-chefe, que se dispunha a proceder à necrópsia, foi prontamente impedido pelo general Burgdorf, que lhe disse: ‘Não toque no corpo. Em Berlim, já foram tomadas todas as providências’. Algum dia se saberá, em detalhe, o que se passou no caminho de Ulm? Burgdorf pereceu, com Hitler, no bunker da capital em chamas. O general Maisel e o motorista da SS sobreviveram, e, mais tarde, indagados
79
HISTÓRIA
A escrava que falava inglês Pelos anúncios de jornais antigos podemos saber mais sobre as nações de origem, marcas de castigos corporais, tatuagens tribais, divertimentos e vida social dos escravos Leonardo Dantas Silva
E Imagens: Reprodução
80
m sua edição de 31 de julho de 1848, o Diario de Pernambuco publica anúncio, de certa forma curioso para os dias de hoje em que tanto se fala da importância do conhecimento de mais de uma língua: “Vende-se uma escrava de dezoito anos, de bonita figura e bons costumes, e que serve bem a uma casa, por ter sido educada por uma senhora inglesa, a qual também fala inglês, cose, cozinha, engoma e lava; na Rua do Livramento n.º 36” (DP 31.7.1848). Por muitos anos a imprensa viu no negro escravo um objeto de negócio, classificando-o entre os semoventes – tratado por cabra, a se confundir com o próprio animal –, e só muito depois é que veio despertar para a chaga da escravidão. Para a grande massa escrava, que integrava a população do Brasil e acalentou na Independência o seu sonho de liberdade, a imprensa periódica que surgia nada mais era que uma nova forma de negócio. O Diario de Pernambuco, a exemplo de todos os demais jornais de sua época, não fugia à regra, como se depreende do enunciado do seu primeiro número, que se propunha publicar: “...Roubos – Perdas – Achados – Fugidas e Apreensões de escravos [...] Amas de Leite etc., tudo quanto disser respeito a tais artigos; para o que tem convidado todas as pessoas, que houverem de fazer estes ou outros quaisquer anúncios...”
HISTÓRIA Sobre o assunto, observa Joaquim Nabuco em 1883, quando da publicação de O Abolicionismo, cuja reedição, facsimilar da primeira, fizemos publicar em 1988 pela Editora Massangana: “em qualquer número de um grande jornal brasileiro – exceto tanto quanto sei, na Bahia, onde a imprensa da capital deixou de inserir anúncios sobre escravos – encontram-se com efeito as seguintes classes de informações que definem completamente a condição presente dos escravos: anúncios de compra, venda e aluguel de escravos em que sempre figuram as palavras mucama, moleque, bonita peça, rapaz, pardinho, rapariga de casa de família...” Esses anúncios de jornais, de que trata Joaquim Nabuco, despertaram o interesse de Gilberto Freyre no início dos anos 30, para isso contou com as pesquisas do jovem José Antônio Gonsalves de Mello, depois transformadas em conferência, O Escravo nos Anúncios de Jornal do Tempo do Império, seguindo-se do livro de grande sucesso. Os anúncios de jornais, particularmente os do Diario de Pernambuco, já vinham sendo utilizados por Gilberto Freyre desde 1933, quando da publicação da primeira edição de CasaGrande & Senzala (p.330, notas), como identificação das nações africanas aqui existentes. Dos anúncios transcritos por Gilberto Freyre, aparecem escravos claros, a denunciar a mestiçagem que tomava conta do Brasil, formadora da morenidade de que tanto nos orgulhamos nos dias atuais: alvo era “Francisco, que tinha tatuagens representando uma cruz e o signo-de-salomão” (DP, 28.3.1834); “Vende-se para fora da província uma mulata bem alva, de idade de 20 a 22 anos, muito prendada, fiel e sem vício algum” (DP, 30.11.1836); o mulatinho que desapareceu da ponte da Boa Vista era “alvo e de cabelo estirado e louro” (DP, 16.9.1837); “de peitos grandes, pés e mãos pequenas, dentes grandes separados”, era a mulata clara Virgínia (DP, 13.3.1838); “...estatura alta, bem alvo e bonito, seco de corpo, braços compridos, dedos finos e grandes, sendo os dois mínimos dos pés bastante curtos e finos, tem 18 anos de idade, cabelos corridos e pretos, levando eles rentes... mãos e pés bem-feitos e cavados, olhos pardos e bonitos, sobrancelhas pretas e grossas, não buça, leva calça de brim branco já usada e camisa de chita com flores roxas” (DP, 21.1.1865); “...bem alvo e bonito, seco de corpo, braços e pernas compridas, dedos finos e grandes, cabelos corridos e pretos, olhos
grandes e bonitos, sobrancelhas pretas e grossas”, era Ubaldo cuja fuga é anunciada (DP. 5.4.1870). Por tais anúncios podemos saber mais sobre as nações de origem (Moçambiques, Angolas, Caçanges, Benguelas, Nagôs, Bantos etc.), marcas de origens e de castigos corporais, tatuagens tribais, divertimentos, vida social e habilitações dos escravos. Nele se esconde toda a vida social dos escravos de então, como divertimentos – “Catarina freqüentava aos domingos o maracatu dos coqueiros, no Aterro dos Afogados” (DP.1.7.1845); erudição – “Delfina falava muito bem espanhol” (DRJ, 4.5.1830) ; trajes – Isabel vestia preto, “por o Sr. trazer de luto” (DP, 31.1.1842) ; temperamento (tristes, alegres, falantes, ladinos, brigões), vícios (fumo, álcool, comer terra); doenças (marcas de bexiga, boubas, bichos-de-pé etc.); ajuntamentos – a preta Ricarda era canhota, “mais ou menos alta, seca, cabeça chata, cara redonda”, que, “muito pachola”, gostava de “súcias e batuques” (DP, 16.7.1845); adornos; penteados; deformações profissionais; constituição física – Ana “tinha os peitos em pé, pés pequenos, bem-feita de corpo” (DP, 4.5.1839); comportamento – ... “mulata de linda figura, sabe labirinto, é engomadeira e costureira, de boa conduta” e, como não poderia deixar de ser, “própria para uma noiva” (DP, 7.8.1857); marcas de ferro e/ou de nação; dado a feitiços – alguns com culto instalado na Estrada de João de Barros (DP, 7.2.1859). Não faltavam, nesses anúncios, alguns escravos fugitivos pertencentes a ordens religiosas, como aquele publicado no Diario de Pernambuco de 11 de setembro de 1838: “Do engenho Maraú, ribeira do rio Parnaíba, propriedade do Mosteiro de São Bento da cidade da Paraíba, fugiu Bonifácio, crioulo, idade de 50 anos, seco, pernas finas, pouca barba, e já toda branca; João Batista, crioulo, carpina, de 30 anos de idade, estatura ordinária, cheio de corpo, e muito barbado, tem os calcanhares brancos, e pernas fouveiras por queimadura de fogo de pólvora, e o andar um tanto embaraçado; quem os prender e levá-los ao dito engenho, ao abaixo assinado, ou ao Mosteiro de Olinda, será satisfeito de todas as despesas e bem recompensado; consta ao abaixo assinado que eles têm andado por Paudalho, Nazaré e Limoeiro, portanto ele roga a seus amigos residentes nesses lugares, toda a pesquisa a respeito, e deles espera tal favor Fr. Galdino de S. Inês Araújo”. •
Continente setembro 2004
81
82
TRADIÇÕES Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP (Fundo Mario de Andrade)
Chico Antônio com seu ganzá, ao lado do seu mecenas, Antônio Bento, final dos anos 20
No balanço do ganzá Comemorações do centenário do embolador Chico Antônio, descoberto por Mario de Andrade na década de 20, lembram a figura que encarna o mito do artista popular Inácio França
C
hico Antônio é citado ou aparece como protagonista em cinco livros de Mario de Andrade, cantou na Rede Globo, teve sua vida registrada num documentário financiado pela Funarte, foi lembrado por Antônio Nóbrega no disco Na Pancada do Ganzá e pelo grupo Mestre Ambrósio. Agora, em setembro, mês em que ele completaria 100 anos, a casa onde vivia no município de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, será tombada como patrimônio histórico estadual. Sua biografia será lançada no final do ano pela editora da UFRN. Mas, afinal, quem foi esse Chico Antônio, merecedor de tamanhas homenagens? Embolador de coco, ou “coquista”, Francisco Antônio Moreira reservou sua vaga no imaginário dos intelectuais brasileiros no final da década de 1920, quando foi “descoberto” por Mario de Andrade durante a viagem etnográfica que o escritor paulista fez ao Nordeste, entre os anos de 1927 e 1929. O autor de Macunaíma ficou tão encantado com os versos improvisados de Chico que decidiu imortalizá-lo na sua obra. O cantador Continente setembro 2004
TRADIÇÕES 83
potiguar mereceu destaque nos livros Os Cocos, Danças Dramáticas do Brasil, Vida de Cantador, Turista Aprendiz e Melodias do Boi e Outras Peças. A autoridade intelectual de Andrade transformou Chico Antônio num dos símbolos do Modernismo, cultuado pela intelectualidade dos anos 30 e 40 como um exemplo do talento do artista popular. Cultuado, porém desconhecido. Convidado pelo escritor para acompanhá-lo na viagem de volta a São Paulo, Chico recusou, pois tinha mulher e filhos. Preferiu cuidar da família a cantar nos salões paulistanos. Assim, as citações nos livros conferiram ao embolador uma aura de personagem lendário. Os leitores e estudiosos da obra de Mario, que nunca escutaram a voz e o ritmo do cantador de coco, contentavam-se com os poucos versos coletados e reproduzidos pelo escritor. Mas, enquanto os livros de Andrade acumulavam poeira nas estantes ou eram analisados e reinterpretados por estudantes de literatura nas universidades, o homem Chico Antônio continuava cantando, “tirando cocos” nos engenhos e comunidades rurais de Pedro Velho, Canguaretama, Goianinha, Nísia Floresta e São José do Mipibu, cidades ao sul de Natal. Na década de 1960, passou alguns anos no Rio de Janeiro, trabalhando como pedreiro na construção civil e enviando dinheiro para a mulher. Nem imaginava que tinha se transformado em personagem cultuado. Não fosse o acaso, ficaria no imaginário e não na história. Em 1979, sem estrutura para trabalhar como diretor de Promoções Culturais da Fundação José Augusto, do governo potiguar, o folclorista Deífilo Gurgel decidiu usar o carro e o motorista da repartição para fazer um inventário das danças populares do seu Estado. No último dia de sua viagem pelas cidades e vilas do litoral, chegou a Pedro Velho. Fotografava a igreja matriz, quando o tabelião do cartório local se aproximou, disposto a ciceroneá-lo. “Era final de tarde, já dava a pesquisa por concluída, quando o tabelião me levou para fotografar umas ruínas. Depois, fomos até sua casa comer canjica e tomar café, foi quando lhe expliquei que estava catalogando grupos de dança e artistas populares. Ele estava pensando que eu era fotógrafo”. Conversador, disposto a ajudar o funcionário público da capital, o tabelião garantiu que a cidade tinha um embolador de coco dos bons. Era noite e Deífilo não estava muito disposto a retomar a rotina de entrevistas e gravações. Foi só escutar o nome “Chico Antônio” que seu ânimo melhorou. O tabelião nunca tinha lido Mario Continente setembro 2004
TRADIÇÕES de Andrade, não sabia que tinha aguçado a curiosidade de um intelectual, professor da universidade. “Lembrei do livro Turista Aprendiz e perguntei se esse tal Chico já tinha morado no engenho Bom Jardim. Esse engenho pertencia a Antônio Bento, crítico de artes no Rio e anfitrião de Mario aqui no Rio Grande do Norte”, recorda Deífilo. A resposta foi um evasivo “sei não, ele já andou muito por essas terras, mas agora tá velhinho”. Os dois foram até a casa do cantador, na mesma noite, 10 quilômetros por uma estrada de barro. Sob a luz do candeeiro, Deífilo perguntou ao velho Chico Antônio, então com 75 anos: “O senhor lembra de um pessoal de São Paulo que veio ver o senhor cantar lá no Bom Jardim?”. Lúcido e com a memória intacta, o embolador nem esperou o final da pergunta: “Lembro do doutor Mario. Mario de Andrade”. O personagem saía das páginas amareladas. Era um homem de carne, osso e poesia. Deífilo voltou para Natal, escreveu artigos publicados nos jornais locais. Os correspondentes dos jornais do eixo Rio-São Paulo publicaram matérias no Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e O Globo. Aloísio Magalhães, então secretário de Cultura do Ministério da Educação, foi ao Rio Grande do Norte e fez questão de conhecê-lo. A Funarte mandou uma equipe registrar seu canto e gravou o LP No Balanço do Ganzá. Em 1983, o cineasta Eduardo Escorel captou as imagens e as entrevistas para o documentário Chico Antônio, um Herói com Caráter, também financiado pela Funarte. A equipe do Som Brasil, programa apresentado por Rolandro Boldrin que marcou época nas manhãs de domingo da Rede Globo, enviou duas passagens de avião para que ele fosse cantar. Antes da gravação, deu entrevista coletiva para os jornais. Quebrando as normas da emissora, só cantou depois de tomar algumas doses de aguardente, que o próprio Boldrin mandou comprar para “inspirar” o velho cantador. Entre os defensores da cultura popular, no início dos anos 80, menos numerosos do que hoje, Chico Antônio voltou a ser mania. Fenômeno de mídia, logo seu nome desapareceu das manchetes. Depois de tudo isso, a idade pesou. Sem forças para cantar, passou a sobreviver de uma pensão especial concedida pelo governo. Morreu esquecido, em outubro de 1993, exatamente durante as comemorações do centenário de Mario de Andrade. A partir daí, Chico Antônio voltou a ganhar a força de um personagem: apesar dos escassos registros da sua poesia e do seu canto, tornouse um símbolo da originalidade e do talento do artista popular. Em Toulose, na França, o músico e pesquisador Claude Sicre, líder de um movimento que busca no forró e no repente traços e similaridades com a música dos trovadores medievais franceses, convenceu as autoridades locais a erguerem uma estátua na Place dês Troubadours em sua homenagem. No pedestal, uma placa informa aos desavisados que aquela imagem representa Chico Antônio, o maior cantador do século 20. Levado por seu amigo Sicre, Lenine viu a estátua e ficou perplexo. Lenine assegura que Sicre escutou o CD da Funarte (aquele que foi gravado originalmente no formato LP) e se apaixonou pela arte do potiguar. O mesmo aconteceu com Siba, do Mestre Ambrósio, e Antônio Nóbrega. Mas eles são exceções à regra. Entre aqueles que o reverenciam, poucos tiveram acesso a versos como “bonito não era o boi/como era o aboiar/li-li-ô boi tungão/boi do maiorá”, cantados por Chico durante as gravações do LP do Continente setembro 2004
Fotos: Acervo do pesquisador Luiz Félix Neto
84
A autoridade intelectual de Andrade transformou Chico Antônio num dos símbolos do Modernismo, cultuado pela intelectualidade dos anos 30 e 40 como um exemplo do talento do artista popular
selo Funarte. Afora esses registros, a Fundação Hélio Galvão, de Natal, lançou no início deste ano o CD Carretilha de Cocos, com coquistas da atualidade cantando algumas de suas músicas. A esperança de que esse catálogo aumente está nas fitas cassetes gravadas por Deífilo Gurgel ao longo de quase 14 anos de convivência com Chico. Durante a pesquisa de campo para sua tese de mestrado em Antropologia Cultural pela UFPE, a historiadora potiguar Gilmara Benevides atestou que o culto ao cantador independe do grau de conhecimento que as pessoas têm a respeito de sua arte. “A figura de Chico Antônio é respeitada entre os intelectuais. Muitas dessas pessoas nada conhecem de cantoria, mas o valorizam por ele estar incluído na literatura de Mario de Andrade. Nas cidades ao sul de Natal até a divisa com a Paraíba, os mais velhos que o conheceram bem ainda o reverenciam como um grande artista. Uma senhora octogenária se referiu a ele como ‘o Roberto Carlos da gente’”. No final desse ano, a historiadora lançará a primeira biografia do artista, O Canto Sedutor do Coquista Chico Antônio, pela editora da UFRN. É provável que o livro de Gilmara revele a personalidade do cantador e lhe confira dimensão humana, algo que vá além da mística que o cerca pelo fato de ele ter sido reverenciado por um dos mais férteis intelectuais brasileiros. Mas a historiadora encontrou nos textos de Mario de Andrade elementos que podem explicar por que sua cantoria se diferenciava. Quanto mais ele cantava, mais bebia aguardente e, ao contrário dos demais cantadores, não ficava sentado. Com o ganzá na mão esquerda, ele não parava de girar o corpo, mantendo a dicção perfeita. Girava e cantava, entrando numa espécie de transe, como descreveu Mario de Andrade. Suas apresentações realmente tinham algo de espetacular, a ponto de até uma centena de pessoas fecharem um círculo para acompanhar a cantoria. Uma história contada por Deífilo Gurgel revela que, gozador e brincalhão, Chico Antônio tinha noção do valor de sua arte, mesmo antes de ser apresentado e passar pelo crivo de Mario de Andrade: depois que foi convidado pelo crítico Antônio Bento para morar no Bom Jardim, um capataz do engenho foi até a casa de taipa onde ele tinha sido instalado e lhe entregou uma foice e um quartinho d’água, ordenando em seguida que fosse cortar cana. Chico não se moveu da rede onde estava deitado e dispensou o capataz: “Cumpade Antônio Bento me trouxe aqui foi pra cantar, não foi pra trabalhar, não”. •
Ubaldo Bezerra
Chico Antônio, já idoso, foi redescoberto pelo pesquisador potiguar Deífilo Gurgel, no final dos anos 70
86
ENTREMEZ Ronaldo Correia de Brito
Reflexões sobre o nosso tempo III – A medicina e a pulga A prática geral da medicina está cada dia mais burocratizada e menos humana
U
m amigo, baleado por assaltantes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Como sou médico, os familiares ligaram para mim, pedindo que eu fosse vê-lo. Cheguei rápido, mas todas as providências já haviam sido tomadas: exame clínico, radiografias, medicação, curativos. A bala passou ao lado de artérias e vísceras, mas, felizmente, saiu sem causar maiores estragos. Sempre se fala que, em casos de trauma, o melhor lugar para ser socorrido é uma emergência de hospital pú-
Continente setembro 2004
blico. É possível que seja verdade, embora todas elas pareçam uma praça de guerra, bem pior do que vemos em filmes. Nas emergências públicas, com boxes e corredores cheios de macas, colchões e papelões servindo de camas, os pacientes e familiares se amontoam por vários motivos: aguardam a evolução clínica da doença, um exame complementar, cirurgia ou transferência para outro hospital. Os gritos, os gemidos, o mau cheiro, o desconforto das macas de ferro, as lâmpadas permanentemente acesas passam a sensação de uma câmara de
ENTREMEZ
tortura. Alguns pacientes ficam mais de 20 dias nesse ambiente insalubre e, ao saírem, parecem transtornados, em surto psicótico. Não são apenas os pacientes que sofrem. Médicos, enfermeiras e auxiliares, por mais habituados que estejam ao convívio com a dor, trabalham no limite máximo do stress. As estatísticas apontam elevados índices de alcoolismo, uso de drogas, doenças psiquiátricas e suicídio entre os médicos, em conseqüência de jornadas de trabalho excessivas, péssima remuneração e frustrações com o exercício da profissão. Bastam algumas horas dentro de uma emergência geral para constatar essa dura realidade. Sempre devotei uma profunda admiração e respeito aos médicos que dão o máximo de si mesmos para minorar a dor dos pacientes que sofrem. Há neles uma humanidade semelhante à dos heróis que desprezam o perigo, arriscando a vida para salvar um semelhante. Embora quase todos os estudantes comecem a sua prática pelas emergências, poucos conseguem se manter nessa função. Além do preparo científico, ela exige coragem, um certo grau de renúncia ao prazer, e amor ao risco. A prática geral da medicina está cada dia mais burocratizada pelo excesso de exames complementares. Poucos são os profissionais que escutam e valorizam o discurso do paciente. Olham-se os exames como códigos secretos, verdadeiros dogmas religiosos, tão fundamentalistas quanto os códigos dos talibãs. As vidas de milhões de homens e mulheres são geridas pelo seu colesterol e pelos marcadores de câncer. Assim como os cidadãos da Idade Média se mantinham jugulados pelo terror da Igreja Católica, temendo arder no inferno, o homem moderno mantém-se suspenso pelos valores de suas “taxas”. A medicina praticada pela maioria dos médicos sofre de um orgulho desmedido, uma fé irremovível na técnica em que se fundamenta. Não farei qualquer ataque à razão e à técnica, porque técnica para mim continua sendo téchnikós, que significa relativo à arte. No entanto, questiono o modelo de medicina baseado numa razão infalí-
vel, que muitas vezes subestima a ética, a cultura e a subjetividade do paciente. Em algumas formas do seu exercício, sobretudo no trato com as populações mais pobres, a medicina lembra os colonizadores que invadem nações, consideram os povos dominados inferiores, rejeitam sua cultura, os valores sedimentados durante séculos. No caso do Brasil, somos um povo formado por vários estratos de civilização e cultura, alguns ainda no neolítico, como os índios Yanomamis. Não existirá uma maneira menos traumática de propor a troca dos sons das pedrinhas do maracá numa pajelança pelo ruído do aparelho de ressonância magnética? Trocar uma magia por outra, sem afirmar a supremacia do nosso conhecimento, o poder da nossa medicina contra a fumaça do cachimbo do pajé? Para isto falta-nos humildade. E somos castigados pela nossa hybris, a arrogância do saber absoluto. Ao mesmo tempo em que avançamos nas mais sofisticadas tecnologias de investigação e tratamento, nossa gente permanece sofrendo os males próprios do subdesenvolvimento: a fome, a violência, o analfabetismo e as doenças de veiculação hídrica, pela ausência de saneamento básico. O culto ao diagnóstico tornou-se uma obsessão na prática médica. Não importa se o seu objetivo é o benefício do paciente. Interessa agir como um detetive, revirar as entranhas de quem sofre, chegar a um dos números do Código Internacional de Doenças (CID). É a lógica científica, quase sempre absurda. Como no relato de Jean-Claude Carrière, em O Círculo dos Mentirosos. “Um cientista examina uma pulga que veio se instalar perto dele. Ele lhe ordena: ‘Pule!’, e a pulga pula. O cientista escreve numa folha de papel: Quando dizemos a uma pulga para pular, ela pula. Então, ele pega a pulga e arranca, cuidadosamente, as suas patas. Coloca-a perto dele e ordena: ‘Pule!’. A pulga não se mexe. O cientista anota na folha de papel: Quando arrancamos as patas de uma pulga, ela fica surda”. •
Continente setembro 2004
87
AGENDA
88
ARTES PLÁSTICAS Imagens: Divulgação
Olhar poético sobre o barro O artista plástico pernambucano Rinaldo volta às tintas, utilizando o artesanato em barro como inspiração O artista plástico Rinaldo, conhecido por retratar a figura humana como se fosse esboço, está de volta às tintas com a exposição O que não se entende, sem peso. Desta vez, Rinaldo usou os artesãos em barro como inspiração. Depois de sete meses estudando na França, ele voltou ao país, especificamente para o interior de Pernambuco, para, junto com o grupo Corgo, pesquisar a produção artesanal em barro e cerâmica. E passou quase quatro anos investigando. A experiência fez o artista tentar entender a lógica que ordena este universo, onde as atividades manuais são o sustento de gerações, num contraponto ao mundo ca-
Mosaico Brasil O corpo, últimos segundo Maurício 50 Os anos da arte
Maurício Castro ataca de anatomista na mostra Coisas. Mas de uma maneira própria, lúdica; longe de intencionar reproduzir as ilustrações dos manuais acadêmicos. Nesta mostra, Castro não utiliza o papel como suporte; assim, o visitante pode se deparar com um esquema tridimensional do sistema digestivo, com um fio de cabelo ou sentir-se impelido a deitar numa enorme boca com a língua estirada. Mais: veias, vasos, válvulas, canais, folículos. É uma série cheia de humor, com cores fortes, que apresenta uma releitura, pontuada pelos signos do realismo fantástico, do funcionamento desta engrenagem. Coisas, de Maurício Castro. Galeria Amparo 60 (Av. Domingos Ferreira, 92A – Pina – Recife. Tel: 81.3325 4728). Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados das 9 às 13h. Até 11 de setembro. Continente setembro 2004
brasileira e a atitude antropofágica dos artistas nacionais de devorar e reprocessar tendências mundiais são os eixos temáticos da exposição Tudo é Brasil. Com curadoria de Lauro Cavalcanti, a mostra reúne obras de 36 artistas brasileiros de todo país e de diferentes gerações, no intuito de provocar uma reflexão sobre a arte nacional neste meio século. Manifestações artísticas representantes do Tropicalismo, do Brasil da década de 50 e do país nos dias atuais, fazem parte da exposição, que também inclui uma parte dedicada a João Gilberto. Exposição Tudo é Brasil Rio de Janeiro – Paço Imperial (Praça XV de Novembro. Tel: 21. 2533 4491). Visitação: de terça a domingo, das 12h às 18h. Até 10 de outubro. São Paulo – Itaú Cultural (Av. Paulista. Tel: 11.2168-1776). De 28 de outubro a 6 de fevereiro de 2005. Informações: www.itaucultural.org.br
pitalista. Como resultado, um olhar poético sobre o transformar da matéria-prima e as histórias de vida, com suas emoções, que cada um dos objetos carrega. São sete telas em acrílico que representam os conceitos de razão e “o que não se entende”. Nas letras de Rinaldo, a mostra “é uma sugestão de caminho a ser perseguido, a ser trilhado por mim ou por qualquer pessoa que se confronte com grandes questões”. O que não se entende, sem peso, de Rinaldo. Galeria Lana Botelho Artes Visuais (Rua Maquês de São Vicente, 90 /101, Gávea. Tel: 21.2512 9841), de 16/09 a 16 /10.
Novas paisagens O Recife é o palco das invenções e subversões de Marcos Costa (PE), Letícia Cardoso (RS) e do grupo El Paso, artistas que fazem a mostra Trajetórias 3, continuação do projeto da Fundação Joaquim Nabuco. Letícia se infiltra na cidade, especificamente nas bancas de revistas, com o livreto Coleção de Nuvens. Marcos Costa provoca inquietação nos transeuntes com a instalação de outdoors em pontos estratégicos da cidade, contendo a frase “Vende-se esta cidade”. Já o grupo El Paso apresenta trabalhos fotográficos nos quais a foto é utilizada como meio de investigação dos movimentos de deslocamento e transposição.
Trajetórias 3. Galeria Vicente do Rego Monteiro – Fundaj (Rua Henrique Dias, 609, Derby. 81.34213266). Visitação de terça a domingo, das 15h às 20h. Até 3 de outubro.
CINEMA História da Eternidade, de Camilo Cavalcante
89
Cinema na terra do axé
A 31ª Jornada Internacional de Cinema da Bahia destaca filmes e vídeos nacionais e internacionais
Entre os dias 9 e 15 de setembro, o mais antigo festival de cinema do Norte-Nordeste será realizado em Salvador. A 31ª Jornada Internacional de Cinema da Bahia vai exibir 32 filmes e 50 vídeos de vários Estados brasileiros e de outros países, selecionados entre 221 produções. Vão concorrer aos troféus Tatus 15 trabalhos de ficção, nove documentários, cinco animações e três experimentais. A grande maioria dos filmes é brasileira. Da Espanha, serão apresentados os filmes La Chica de la Carcel, de Fernando Uson, e Archipiélago, de Leon Siminiani. Os portugueses trazem o filme Pescadores de Tractor, de Rui Felipe Torres. Já na categoria dos vídeos fica clara a força das narrativas documentais. Das 50 produções, 32 são documentários.
Os sete dias da Jornada também vão celebrar os países africanos de língua portuguesa. Uma grande mostra do cinema moçambicano e a presença de cineastas e intelectuais do país vão enriquecer as palestras e debates sobre as trocas culturais Brasil – África. A primeira exibição no Brasil da cópia restaurada do filme Vendaval Maravilhoso, de Leitão de Abreu, acontecerá durante a Jornada. O filme foi considerado uma superprodução luso-brasileira, em 1949, e é um dos poucos trabalhos fílmicos que fala sobre o poeta Castro Alves. 31ª Jornada internacional de Cinema da Bahia De 9 a 15 de setembro. Fone: (71) 335.0380 jornada@ufba.br – jornadaba@yahoo.com http://jornadabahia.cjb.net
Mostra e Concurso na Fundaj
Filmes esperados
Gael García Bernal no filme La Mala Educación
Mais de 300 filmes serão exibidos, em 30 salas de cinema do Rio de Janeiro, entre os dias 23 de setembro e sete de outubro. O Festival do Rio 2004 vai trazer filmes esperados como La Mala Educación, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e Kill Bill Vol. 2, do diretor Quentin Tarantino. Essas produções fazem parte da mostra Panorama, que vai apresentar novidades do cinema mundial. Mas, o ponto alto do evento é a Mostra Premiére Brasil, que ocorre, todas as noites, numa sessão de gala, destacando as novidades do cinema nacional. O festival também vai apostar nos novos talentos. A mostra Expectativa é um espaço aberto para divulgar trabalhos de diretores iniciantes. A mostra Midnight (que reúne obras bizarras, sem espaço no circuito comercial) e a Gay (que teve casa cheia na última edição) devem ser as mais animadas. O público infantil também não foi esquecido e, além de assistir às sessões, deve produzir seus próprios vídeos. O cinema africano também vai estar em pauta no Foco África, assim como as produções latinas, na Mostra Latina. Festival do Rio 2004. De 23 de setembro a 7 de outubro. www.festivaldorio2004.com.br
Em setembro, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realiza a Mostra de Cinema Digital e o II Concurso Massangana Multimídia para Roteiros de Documentários em Vídeo. A idéia da mostra é servir como vitrine para o grande número de obras digitais produzidas na cidade. As inscrições para o evento, que será realizado entre os dias 20 e 24, foram encerradas no último dia três, dando início à fase de seleção. Já o II Concurso Massangana Multimídia para Roteiros de Documentários em Vídeo, patrocinado pela Chesf, tem como objetivo incentivar a produção regional de vídeo documental. Nesta segunda edição, o concurso premiará dois projetos de documentários, da região Nordeste, que tenham como tema a “Questão Ambiental – Estratégias de Sobrevivência”. Os ganhadores receberão, além da premiação em serviços, através da cessão de equipamentos técnicos da Massangana Multimídia Produções, um patrocínio no valor de R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro, no site da Fundaj. II Concurso Massangana Multimídia para Roteiros de Documentários. Inscrições: www.fundaj.gov.br /multimídia@fundaj.gov.br Fone: (81) 3421.1090. Mostra de Cinema Digital. De 20 a 24 de setembro. Cinema da Fundação (Rua Henrique Dias, 609, Derby. Fone: (81) 3421.3266). Entrada Franca. Continente setembro 2004
AGENDA
Fotos: Divulgação
ARTES CÊNICAS Divulgação
Caravana cênica
Saudoso Lecuona Grupo Corpo monta espetáculo com trilha sonora do compositor cubano Ernesto Lecuona Um piano, um canto impostado e letras passionais, impetuosas, falando de amor e de sentimentos vorazes, ardentes e nefastos. Esse é o clima do mais novo espetáculo do Grupo Corpo, Lecuona, baseado nas canções e em uma valsa do pianista e compositor cubano Ernesto Lecuona (1895-1963). Há 12 anos sem montar uma coreografia que não tivesse trilha sonora original, o grupo mineiro fugiu à regra e abraçou 12 canções (cada uma encenada por um pas-de-deux) e uma valsa (única formação de grupo) de um dos ícones da música de Cuba. O espetáculo já se apresentou em São Paulo e vai passar pelo Rio de Janeiro (2 a 6/09), Belo Horizonte (9 a 13/09) e Brasília (16 a 20/09). O espetáculo, idéia do coreógrafo Rodrigo Pederneiras, traduz cenicamente as 12 canções sentimentais e românticas – destacadas, cada uma, por uma cor – e a grande valsa que fecha o balé. A iluminação e o figurino compõem o clima da apresentação, marcada por cores vibrantes, tecidos fluidos, decotes generosos, sapatos altos e dança em cubos de luz. Junto com o novo espetáculo sobe ao palco outra montagem do grupo: Nazareth, com trilha original de José Miguel Wisnik, inspirada na obra do compositor popular carioca Ernesto Nazareth (1863 -1934). Desde que estreou, em 1993, a coreografia passou por vários países, mas, desde 1995, não é apresentada nessas quatro capitais brasileiras. Lecuona, coreografia de Rodrigo Pederneiras (Grupo Corpo) 2 a 6/09 – Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 9 a 13/09 – Palácio das Artes. 6 a 20/09 – Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Continente setembro 2004
Diversas cidades do Nordeste devem receber, durante os meses de setembro e outubro, a Caravana Funarte de Circulação Regional, que leva vinte espetáculos de dança e teatro para os nove Estados da região. Todas as companhias selecionadas são nordestinas. Os grupos recebem um prêmio no valor de R$ 30 mil para pegar a estrada e mostrar aos nordestinos o que está sendo produzido em artes cênicas na região. Junto às apresentações, acontecem debates, palestras, oficinas, lançamentos e exposições. O preço dos ingressos varia, indo, no máximo, até R$ 10,00. A programação traz, este mês, peças de todos os Estados: A Inconveniência de Ter Coragem (PE), Dançando nas Alturas (PE), Angu de Sangue (PE), Coração de Mel (PE), Bagaceira – A Dança dos Orixás (CE), Caravana Gajuru (AL), Curral de Lembranças (CE), Desvalidos (SE), Maria Minhoca(BA), Capivara (PI), Para Quem Nunca Viu (RN), Alô, Alô Criançada de Todas as Idades (PI).
Hans Manteuffel/Divulgação
AGENDA
90
O espetáculo Coração de Mel
Caravana Funarte. Fone: (81) 3424.5991 / 7611. norte.nordeste@minc.gov.br
Chance em Florianópolis Estão abertas as inscrições para o XII Festival Nacional de Teatro de Florianópolis Isnard Azevedo. O evento acontecerá em novembro, com apresentações de companhias convidadas e selecionadas de toda América Latina, nas categorias adulto, infantil e de rua. Cada grupo deverá ter, no máximo, 15 integrantes, e os espetáculos de 45 a 75 minutos. Cada selecionado receberá uma ajuda de custo de R$ 1.500,00, além de hospedagem, alimentação e transporte interno. O material do espetáculo deverá ser enviado até o dia 21 de setembro. Informações: (48) 324.1415. ffcascaes@pmf.gov.br ou www.pmf.gov.br
91
Palco nordestino A cidade de Guaramiranga, localizada no Maciço do Baturité, no Ceará, receberá, entre os dias 17 e 25 de setembro, o 11º Festival Nordestino de Teatro, com mostras competitivas e paralelas, espetáculos, convidados, debates e oficinas. A peça Melanie Klein, com as atrizes Nathália Timberg, Carla Marins e Rita Elmor, abre o festival. Este ano, foram inscritos 57 espetáculos do Nordeste na Mostra Competitiva, dos quais nove Lampião e Maria Bonita(BA), Lesados (CE), Curral de Lembranças (CE), O Livro (CE), Fernando e Isaura (PE), Angu de Sangue (PE), Guiomar, a Filha da Mãe (PE), Os Salvados (PI), Muito Barulho por Quase Nada (RN)) foram selecionados para concorrer aos R$ 15 mil em prêmios. As mostras paralelas, antes voltadas apenas para as produções cearenses, abriram espaço para produções nacionais e internacionais. Dois espetáculos de Portugal Auto dos Físicos, da Associação Teatro Construção, e Ex-Godot, com os atores Diana Morais e Filipe Ferraz, da Escola Superior Artística
cearense Lesados
do Porto, estão na programação. Encerrando o evento, o grupo Lume, de Campinas, leva aos palcos o espetáculo Shizen, 7 cuias. 11º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga 17 a 25 de setembro. Informações: (85) 321.1505, fnt@agua.art.br, www.agua.art.br
Christof Krackhardt/Divulgação
Esculpindo a dança Teatro nas ruas
Em setembro, a tradição do teatro de rua está de volta ao Recife. De 13 a 26, vai acontecer o II Festival de Teatro de Rua do Recife, com apresentações de grupos locais e de outros Estados em diversos bairros da Região Metropolitana do Recife. Performances intituladas Guerrilhas Teatrais vão acontecer em espaços públicos como o Mercado de São José e o Cais de Santa Rita. O objetivo central é fazer a cidade respirar teatro. De Juazeiro da Bahia, vem o Grupo Carranca, de Icapuí, no Ceará, vem o Grupo de Teatro de Rua Flor do Sol, com o espetáculo Abra a Porta Cotidiano e Deixa o ECA Entrar (foto), e o grupo paulista Buraco d’Oráculo traz a peça O Cuscuz Fedegoso. II Festival de Teatro de Rua do Recife De 13 a 26 de setembro. Fone: 81 9101.9443 Mtp_pe@yahoo.com.br
Imagens: Divulgação
Com 10 anos de tradição, o Festival de Teatro de Guaramiranga reúne produções de quase todo o Nordeste A peça
Marcando as comemorações dos seus 16 anos de criação, a Cia. dos Homens leva aos palcos do Teatro Santa Isabel, o espetáculo Labirindo, que mistura o universo da dança contemporânea ao da escultura. A coreografia de Cláudia São Bento trata dos caminhos seguidos pelos artistas durante seu processo de criação. O trabalho está sendo idealizado a partir da obra de quatro escultores: Valerie la Verne (que participa da apresentação esculpindo em barro), Demétrio Albuquerque, Zeferino e Braz Marinho. Murilo Malta/Divulgação
Labirindo, coreografia de Cláudia São Bento. De 29 de setembro a 2 de outubro, às 21h, no Teatro Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio. Tel: (81) 3224.1020). R$ 10,00 e R$ 5,00 (meia).
Mais Ariano
Depois de 17 prêmios, em onze anos de encenação, chega ao Recife a peça Torturas de um Coração, montagem de Almir Telles, baseada na obra de Ariano Suassuna. O texto, originalmente criado para ser encenado por mamulengos, é interpretado por atores do grupo carioca Sarça de Horeb. Quatro personagens típicos do teatro de mamulengos nordestino (o negro Benedito, o valentão Vicentão, o meganha Cabo Setenta e o gostosão Afonso Cabeleira) tomam conta do palco e disputam o amor da mulher mais cobiçada da cidade (Marieta). Torturas de Um Coração, de Almir Telles, texto de Ariano Suassuna. De 8 a 11 de setembro, às 21h, Teatro Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio. Tel: (81) 3224.1020).
Continente setembro 2004
AGENDA
ARTES CÊNICAS
AGENDA
92
MÚSICA Fotos: Divulgação
Orquestra Petrobras Pró Música
A poética do som O piano imagético de Wagner Tiso encontra as cordas rascantes e precisas do violonista Victor Biglione, no show, Tocar – a poética do som, inédito no Norte-Nordeste, no qual serão apresentadas, numa única noite, as músicas do disco homônimo (recém-lançado), primeiro em duo piano-violão de Wagner (gravou duos apenas com os pianistas César Mariano e João Carlos Assis Brasil) e também da dupla, que divide palco há quase vinte anos. No repertório, recriações de “Na Cadência do Samba”, de Ataulfo Alves e Paulo Gesta, e “Samba de uma nota só”, de Tom Jobim e Newton Mendonça, também novas roupagens para “Vera Cruz” e “Cravo e canela”, de Milton Nascimento, além de outras. Wagner reinterpreta com Victor as suas canções “Nave Cigana” e “7 tempos”.
Música na primavera A tradicional cidade de Paraty viverá novos dias de festa, mas desta vez musical, com a realização do I Festival da Primavera de Música Clássica A pequena cidade de Paraty, patrimônio histórico e cultural da humanidade, que respira literatura no mês de julho, com a realização da Feira Literária de Paraty, vai se encantar com a música erudita durante o mês de setembro. É que lá será promovido o I Festival da Primavera de Música Clássica, “regido” pela Orquestra Sinfônica Petrobras Pró Música. Nas estantes, partituras – que vão de Bach, Vivaldi, Brahms, Henri Mancini e Beethoven a Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Maestro Duda, Luiz Gonzaga, Cláudio Santoro e Camargo Guarnieri – serão tocadas/cantadas pelos naipes de metais, o que confere um tom jazzístico ao evento, e cordas ou por solistas como Céline Imbért (mezzo-soprano), Denise Sartori (contralto), Felipe Prazeres (violino), entre outros, e pelo o coro da cidade de Petrópolis, em concertos regidos pelo maestro Carlos Prazeres, que também faz solo com o oboé. O Festival da Primavera é mais uma possibilidade para os melômanos, ou não, curtirem a boa música. I Festival da Primavera de Música Clássica de Paraty. Igreja Matriz (Praça Monsenhor Hélio Pires, s/n, Centro, Paraty, RJ. Tels: 21. 2509-6908/6954), de 23 a 26 de setembro. Entrada gratuita. Programação completa: www.promusica.com.br Continente setembro 2004
Tocar - a poética do som, com Wagner Tiso e Victor Biglione. Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio. Tel: 81. 32241020), dia 28/09, às 21 horas. Entrada: R$ 20,00.
Concerto polifônico Pernambuco será palco para o encontro de 20 corais de todo o país, durante a realização do 2º Festival de Corais – Percantum, evento que trará ainda as vozes uruguaias, com o Coro Municipal da Colônia Del Sacramento, argentinas e tchecas. Grupos como Coretfal (AL), Musicil (DF), Luz do Sol (RN), Sindvoz (SE), Madrigal do Recife e Coral do Carmo, ambos de Pernambuco, levarão a polifonia de suas vozes ao Teatro de Santa Isabel e à Igreja da Sé, simultaneamente. Este ano, o Festival assume sua responsabilidade social e cultural: no horário da tarde, o encontro será nas favelas, hospitais e associações de moradores. O evento tem caráter profissional, mas também acolherá grupos amadores que se dedicam com afinco à arte do canto. 2º Festival de Corais – Percantum. Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio. Tel: 81. 32241020) e Igreja da Sé (Praça da Sé, s/n), de 15 a 18 de setembro. A entrada será feita através da doação de 1 Kg de alimento não perecível.
Diálogo de cordas e sanfona
Piano e paixão
Impressionante o encontro entre as cordas do Quinteto Uirapuru e a sanfona de Sivuca, no álbum que leva seus nomes. Aqui, o mago dos sons, aos 74 anos, demonstra plena forma, emprestando toda a sua experiência para os novos do Uirapuru, que juntos criam uma nova sonoridade, harmonizando a sanfona com os acordes do cello, da viola, do violino e do contrabaixo, formando um casamento perfeito entre o popular e o erudito. Sivuca já tinha demonstrado seu interesse pela música erudita quando revelou, em entrevista à Continente, que estava escrevendo uma “sanfonia” para Os Sertões, de Euclides da Cunha, mas o encontro com o quinteto paraibano acelerou o processo. O que se ouve são composições do próprio Sivuca e de Glorinha Gadelha, como “Choro de Cordel”, “Feira de Mangaio”, “Canção Piazzollada” e “Sanhauá”, e do Uirapuru, como “Luz”, “Maria Luíza”, “Espreguiçando” e “Chibanca no Uirapuru”, em arranjos de rara beleza e sensibilidade, que provam que música de qualidade é patrimônio de todos.
Um dos discos mais incensados do ano passado, Lágrimas Negras, assinado por Bebo & Cigala, finalmente chega ao Brasil respaldado por inúmeros prêmios e sucesso de vendas na Europa e na América Latina. Os elogios são justos. O álbum promove uma prazerosa viagem pela música cubana, aqui representada pelo pianista Bebo Valdés, de 86 anos, e pela espanhola, na figura de Diego El Cigala. No tom passional típico do flamenco, Cigala canta boleros, rumbas e tangos, tudo com os arranjos do piano personalíssimo de Bebo, que incorpora o toque apaixonado e dramático às melodias, sem deixar de imprimir os tons caribenho e jazzístico à obra. O canto emocional de Cigala soa excessivo apenas em “Eu sei que vou te amar”, com participação de Caetano Veloso, porque foge da emissão lírica e intimista proposta por Tom e Vinícius. O álbum merece reconhecimento equivalente ao de Buena Vista Social Club, não por projetar para o mundo artistas veteranos, mas por fazer a conexão Cuba-Espanha.
Sivuca e Quinteto Uirapuru. Kuarup, preço médio R$ 20,00.
Lágrimas Negras, com Bebo & Cigala. BMG, preço médioR$ 36,90.
A voz e a letra
Dois Bicudos
Sertaneja de verdade
Pela primeira vez, Olivia Hime coloca sua bela voz nas suas próprias composições. A cantora que sempre ofereceu tributos a Caymmi, Chiquinha Gonzaga e Manuel Bandeira, põe sua arte a seu próprio serviço – e ao nosso –, mas não deixa de reverenciar seus “heróis”. Na faixa “Cada canção”, relembra Pixinguinha e Raphael Rabello. Já em “Meus heróis”, ela cita frases de “A banda” (Chico Buarque), “Foi um rio que passou em minha vida” (Paulinho da Viola), “As rosas não falam” (Cartola) e de “Um chien perdu sans coulier”, canção que marcou a infância de Francis Hime, que assina arranjos de 11 das 14 faixas. O álbum tem participações de Lenine, Sérgio Santos e Maurício Carrilho, que, com Olívia, nos trazem sambas sutis, valsas, canções em tom latino, blues e baiões.
O velho adágio popular que diz “dois bicudos não se beijam” não se aplica à dupla Pedro Paulo Malta e Alfredo Del-Penho, dois jovens sambistas cariocas que retomam a malandragem da velha forma de cantar samba em dupla, em Dois Bicudos, nome da dupla – boa de bico e de gogó – e do seu álbum de estréia. São sambas, sambas-choro, de terreiro, de breque e de gafieira, em interpretações de composições de Cartola e Aluísio Dias (“Dois Bicudos”), Nelson Cavaquinho (“Entre a cruz e a espada”), Noel Rosa (“Tudo o que você diz”), mas também de Paulo César Pinheiro e Maurício Carrilho. É um disco inteligente, que resgata um estilo quase extinto (samba cantado em dupla) que deu seus últimos lampejos nos anos 60, com Cyro Monteiro e Dilermando Pinheiro.
Uma boa notícia para os apreciadores da música sertaneja (que vivem se queixando de que o que hoje se apresenta como tal está muito mais para o country ou até para o brega): acaba de chegar às prateleiras das lojas do país o disco Nóis é Jeca mais é Jóia (também nome da faixa-título, que já foi difundida por Xangai), primeiro álbum dos parceiros Juraildes da Cruz e Xangai, que faz questão de afirmar “O Juraildes está para mim no mesmo nível do Elomar e do Renato Teixeira”. O álbum projeta as belas imagens da boa vida no campo: humor, paz, natureza, mesa farta, mulher, poesia e amor. Juraildes assina 12 das 13 faixas, que trazem aboios, xotes, baiões e sambas-choros. Além das músicas, o CD contém dois videoclipes com os músicos cantando no estúdio.
Canção Transparente, de Olívia Hime. Biscoito Fino, preço médio R$ 20,00.
Dois Bicudos. Quelé (BF), preço médio R$ 20,00.
Nóis é Jeca mais é Jóia, de Juraildes da Cruz e Xangai. Kuarup, preço médio R$ 20,00. Continente setembro 2004
AGENDA
MÚSICA 93
AGENDA
94
LIVROS
Talento em três gerações Livros reúnem textos de poetas contemporâneos de Pernambuco, além de um estudo sobre o teatro no circo A Fundação de Cultura Cidade do Recife dá prosseguimento ao seu programa editorial lançando quatro livros: Invenção Recife, coletânea dos poetas pernambucanos (ou residentes em Pernambuco) surgidos a partir dos anos 80, sob coordenação de Delmo Montenegro e Pietro Wagner; o segundo volume da antologia Estação Recife, que, organizada por Everardo Norões, José Carlos Targino e Pedro Américo de Farias, reúne poetas da Geração 65; a terceira coletânea Marginal Recife, coordenada por Cida Pedrosa, com poetas do Movimento Marginal e Movimento dos Escritores Independentes; e o livro O Palco no Picadeiro, de Marco Camarotti, sobre o circo-teatro, novo volume da Coleção Malungo, que trata de temas ligados à cultura recifense. O que primeiro chama a atenção é o cuidado que foi tomado com as edições, sempre em formato pequeno, com capas e projetos gráficos que procuram refletir seu conteúdo. Este, por sua vez, é de primeira. Tanto no livro sobre o circo-teatro, escrito por Marco Camarotti, um dos mais respeitados homens de palco do Estado, com longo percurso como ator, encenador, escritor, professor e arte-educador, quanto nas coletâneas, todas selecionadas por poetas também reconhecidos por seu talento. Reservam, assim, ao leitor, o prazer de ler boa poesia e a oportunidade de conhecer como três gerações de escritores vêm contribuindo para o enriquecimento cultural do Estado. Merece destaque Invenção Recife, pela nova coleção que inicia e pela variedade de linguagens que apresenta: da poesia de Lirinha, que se nutre na literatura popular, ao erudito texto de Weydson Barros Leal; dos poemas visuais de Bruno Monteiro à sofisticada sintaxe de Jussara Salazar. (Marco Polo) Estação Recife, Marginal Recife, Invenção Recife, vários autores. O Palco no Picadeiro, Marco Camarotti, FCCR, R$ 10,00 (cada).
Continente setembro 2004
A terceira visão O quarto volume da série de sete obras sobre o período holandês em Pernambuco, que a CEPE – Companhia Editora de Pernambuco vem lançando, em comemoração aos 350 anos de Restauração Pernambucana, acaba de ser impresso. Os Holandeses no Brasil, do historiador britânico Charles R. Boxer, além de suas qualidades intrínsecas de pesquisa histórica e texto fluente, representa a visão de um tertius, vez que a maioria do material historiográfico a respeito foi produzida pelos dois lados envolvidos diretamente (luso-brasileiros e batavos). Não que a Inglaterra, mediadora ao lado da França da solução diplomática do conflito, não tivesse interesses em jogo, muito pelo contrário. Mas a perspectiva histórica e o olhar de estranhamento de pesquisador estrangeiro produziram um distanciamento valioso, sobretudo se levarmos em conta o tom panegirístico dos depoimentos da época – fontes principais dos estudos posteriores. Boxer, professor de Português camoneano na Universidade de Londres, falecido no ano 2000, lançou sua obra em 1957, pela Oxford University Press, mas o livro somente foi traduzido e publicado no Brasil em 1961. A abrangente abordagem do inglês, analisando a empreitada da Companhia das Índias Ocidentais sob as óticas econômica, militar, política, social e diplomática, resulta num magnífico painel dos conflitos externos e internos das potências marítimas da época, que pode ser vista como o primeiro ciclo da globalização. Para o organizador da série, Leonardo Dantas Silva, trata-se de “o melhor estudo sobre a presença holandesa em terras do Brasil colonial”. Os Holandeses no Brasil – 1624 – 1654, de Charles Ralph Boxer, CEPE – Companhia Editora de Pernambuco, 465 páginas.
95
Encantamento
Universo pictórico
Silêncios britânicos
Como preencher de significados tersos e poéticos os acontecimentos menores de vidas menores em cidades pequenas e sem importância, de tal modo que sua descrição passe a conter um sabor misterioso, quase exótico, a ponto de – perante a narrativa destas vidas – nos surpreendermos invejando tanta riqueza de dons? Esse parece ter sido o segredo descoberto pelo escritor francês Pierre Michon, que estreou na literatura tardiamente, aos 39 anos, com este romance que já se tornou um clássico moderno. É justamente de sua imaginação generosa e do poder encantatório de sua narrativa que nasce o fascínio de um livro que a gente lê devagar, sem querer perder nenhum detalhe nem chegar ao final.
Chega às livrarias o quarto dos quatorze volumes programados para a série A Pintura: Textos Essenciais. Abordando a temática do Belo, tem escritos assinados por Platão, Cícero, Plotino, Castiglione, Féliben, Lessing, Joshua Reynolds, Baudelaire e Huysmans, entre outros. A coletânea foi publicada originalmente em francês, em 1995. Formada por 227 textos, da autoria de 130 artistas, críticos, filósofos, poetas, teólogos e historiadores de arte que discorreram sobre vários aspectos da pintura, desde a Antiguidade até o século passado. Num tempo em que a pintura sobre suporte tradicional vem sendo tão contestada pela arte contemporânea, é um bom exercício de reflexão mergulhar num universo tão rico.
O sociólogo Gilberto Freyre escreveu o prefácio do livro de poemas Reticências, do pernambucano George Arribas, em 1985, dois anos antes de sua morte. Com um excesso de autocrítica o autor manteve a obra inédita, num contínuo burilamento dos textos até este novo século, quando, finalmente, decidiu publicá-la. Na sua apresentação Freyre, identifica na poesia de Arribas um escrever em português “quase como se estivesse falando, por dentro, em inglês”, o que dá aos poemas uns “silêncios britânicos”, resultado de longa vivência do poeta em terras inglesas. Para Gilberto Freyre, os textos de George Arribas são “belos, incisivos e inovadores”, afirmativas que o público poderá conferir a partir de agora.
Vidas Minúsculas, Pierre Michon, Estação Liberdade, 216 páginas, R$ 29,00.
A Pintura: Textos Essenciais, Coord.: Jacqueline Lichtenstein, Editora 34, 136
Reticências, George Arribas, CEPE, 122 páginas, R$ 25,00.
Brasil burlesco
Nassau, personagem
Tempo de sombras
Vem do Amazonas, que em 1976 pariu Galvez, pelas mãos de Márcio de Souza, o mais novo rebento do romance picaresco nacional: O Livro dos Desmandamentos, de Carlos Trigueiro. Aqui, a alegoria e a sátira política caminham de mãos dadas pelas veredas poeirentas de um Brasil em que o vidente Santinho, dono de um olho verde e outro azul, profetiza os descalabros de um regime autoritário que estende seus tentáculos até o entorpecido vilarejo de Quebra-Vento, nas possessões do coronel Justo Sacrossanto, homem de dois braços direitos. Trigueiro, autor de uma trilogia composta ainda por O Clube dos Feios e O Livro dos Ciúmes, trabalha a linguagem na matriz da fala popular, com inventividade e leveza, num registro mágico-realista.
Na onda das comemorações pelos 350 anos da expulsão dos holandeses de Pernambuco, a escritora e psiquiatra Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque lança o romance histórico O Príncipe e o Corsário, em que traça um retrato humano do conde João Maurício de Nassau, enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar a Nova Holanda. Pela ótica do judeu-português Gaspar Dias Ferreira, narrador do romance, descortinam-se as nuances psicológicas do executivo multinacional que, ao lado do tirocínio administrativo e militar, trazia uma bagagem cultural incomum, numa imensa curiosidade e o caráter de quem “detestava derrotas”.
O século 21 já foi chamado de era dos extremos, considerado cruel, encerrado antes do tempo, num procedimento apressado de analistas e publicistas, vez que falta ainda a perspectiva histórica para uma análise serena. Mas a pressa faz parte inerente dos próprios tempos por ele delimitado. Mais uma análise tenta desvendar o passado recente: O Século Sombrio, organizado por Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor da UFRJ, reúne artigos de 12 outros especialistas, a maioria da Universidade carioca, e tem na abrangência seu maior mérito, focalizando das relações internacionais às dinâmicas econômicas, passando pelo socialismo, guerras, tecnologia, terrorismo, fundamentalismo e comportamento.
O Livro dos Desmandamentos, Carlos Trigueiro, Bertrand Brasil, 176 páginas, R$ 27,00.
O Príncipe e o Corsário, Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque, A Girafa, 311 páginas, R$ 36,00.
O Século Sombrio, org. Francisco Carlos Teixeira da Silva, Campus, 345 pág., R$ 49,00. Continente setembro 2004
AGENDA
LIVROS
»
96
ÚLTIMAS PALAVRAS
Rivaldo Paiva
Estão voltando as flores Para enfeitar a primavera, nada como uma Corte encurralada e cravejada de coroas - de - frades
M
esmo a despeito dos sobressaltos - já comuns neste conturbado mundo - de novidades espantosas que pulverizam nossos megabytes de mais preocupações responsáveis e ansiedades desnecessárias, sem falar nas salas de espera da cidadania brasileira quanto à de outros lalaus ainda soltos de gravatas e jaquetões, dissimulados em colunas sociais e políticas... Estão voltando as flores. É a primavera setembrina prévia de veraneios calorentos à guisa de uma brisa macia respingada por festivas águas do mar. Voltaram as guerras, por isso os lírios, rosas, jasmins e crisântemos têm que alegrar nossos jardins caseiros, praças e os maçaiós ribeirinhos, até florestas atlânticas e amazônicas, enfeitando a estação. Porquanto, em vez de nos atermos aos deslizes autoritários do partidão da estrela vermelha, cubramos nosso Lula lá de pétalas cheirosíssimas de risos-do-prado, incensando-o como pudermos. Afinal ele é o novo líder da América do Sul e da África, apesar de posar enfaixado garbosamente junto de Ronaldinhos de sungas nos vestiários do Haiti, do ditador do Gabão, com este aprendendo como se faz para permanecer no poder por tanto tempo, justo à beira de mais um 7 de setembro - Ah, esta Independência dos Braganças! Afinal, o ex-metalúrgico foi valente, por isso um afoito nacionalista, principalmente ao ditar à nossa Corte Suprema como ela deveria decidir no julgamento da taxação dos inativos, numa "democrática" negociação inusitada para com os homens da capa preta: - Olha lá, companheiros, a gente não pode perder arrecadação de bilhões por causa desses vagabundos de pijama, não... Que direito adquirido coisa nenhuma, sô?... Tão ouvindo? ...Depois nós conversa no churrasco de domingo lá na Granja do Torto ...E ainda tem uma cachacinha pra nós tomar, tá legal? ...Só não quero que este nosso papo caia na boca do Diogo Mainard nem do Jabor, ok? - Agora, presidente, a gente tem que ter uma contrapartida. O teto tem que aumentar para 2 mil e quinhentos reais, senão
Continente setembro 2004
ficaremos numa pior... O senhor fala lá com o Palocci, pois já o atendemos no caso do Meirelles passar a ser ministro e esquecermos aquelas denúncias... E estamos dando um jeito naquela pretensão do Márcio Thomás Bastos para diminuirmos a pena para os crimes hediondos... Aliás, chefe, não esqueça que a lei da mordaça para a Imprensa covarde, que o senhor foi macho em dizer na cara de alguns deles, está garantida... Afinal, o senhor tem uns três nomeados por aqui, não é mesmo... É só mandar o Dirceu conversar com eles... - Tá fechado. Foram sete votos a favor e quatro contra. Salvem esses quatro! Para eles rosas vermelhas, para os maiorais, coroasde-frades enfeitados de cactos. Aí a batata quente mesmo ficou para nossa cidadania, aliás, ressalto, a mais frágil do mundo. E depois, porque o povo não tem mais a quem se apegar. Ora, se a última instância de apelação judicial para o cumprimento do nosso direito adquirido ficou à mercê de jantares e cochichos com o Planalto, quedando-se a interesses econômicos, o que será de nós? Chegamos ao fim do poço. Em quem mais confiar? É profundamente lamentável, senhores ministros do STF, mas estamos desolados, sem governo e sem justiça. O problema não é se os aposentados têm direito ou não - o problema foi a forma da decisão. A propósito de tanta tirania disfarçada, estão voltando os skinheads e sua práticas nazistas, botando as unhas de fora com surras antiétnicas nos homossexuais - mostrando uma lamentável desunião de classe, cujo maior líder foi o seu venerado wagneriano Hitler - negros e nordestinos, matando mendigos e acoitando pitboys abastados e cheios de tatuagens em lutas livre de ruas e boates contra jovens felizes. Para esses ridículos homicidas, flores do campo, heras, maria-vai-com-as-outras e espinhos de judas. Agora, restaram as Olimpíadas e já estão de volta Gugas, Xuxas, Tiagos, Joanas, Daianes, Bimbas, Popós e Palmerindos... Com algumas esperanças, medalhas de ouro, prata e bronze, além de coroas de ramos de oliveiras gregas. Para eles as flores da paz...