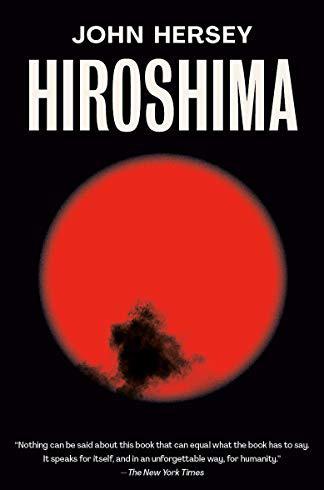Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 1 Jornalismo Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade | PPGCOM/UFPE | ISSN 2526-2440 | e cidadania nº 36 | Maio e Junho de 2020
JORNALISMO E CIDADANIA
Expediente
Editor Geral | Heitor Rocha
Professor PPGCOM/UFPE
Editor Executivo | Ivo Henrique Dantas
Doutor em Comunicação
Editor Internacional | Marcos Costa Lima
Pós-Graduação em Ciência Política/UFPE
Revisão | Laís Ferreira / Bruno Marinho
Mestre em Comunicação / Mestre em Comunica;áo
Articulistas |
PROSA REAL
Alexandre Zarate Maciel
Doutor em Comunicação
MÍDIA ALTERNATIVA
Xenya Bucchioni
Doutora PPGCOM/UFPE
NO BALANÇO DA REDE
Ivo Henrique Dantas
Doutor em Comunicação
JORNALISMO E POLÍTICA
Laís Ferreira
Mestre em Comunicação
JORNALISMO AMBIENTAL
Robério Daniel da Silva Coutinho
Mestre em Comunicação UFPE
JORNALISMO INDEPENDENTE
Karolina Calado
Doutora PPGCOM/UFPE
MÍDIA FORA DO ARMÁRIO
Rui Caeiro
Doutorando em Comunicação
MUDE O CANAL
Ticianne Perdigão
Doutora PPGCOM/UFPE
COMUNICAÇÃO NA WEB
Ana Célia de Sá
Doutoranda em Comunicação UFPE
NA TELA DA TV
Mariana Banja
Mestre em Comunicação
Alunos Voluntários | Lucyanna Maria de Souza Melo
Nathália Carvalho Advíncula Matheus Henrique dos Santos Ramos
Colaboradores |
Alfredo Vizeu
Professor PPGCOM - UFPE
Túlio Velho Barreto
Fundação Joaquim Nabuco
Gustavo Ferreira da Costa Lima
Pós-Graduação em Sociologia/UFPB
Anabela Gradim
Universidade da Beira Interior - Portugal
Ada Cristina Machado Silveira
Professora da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Antonio Jucá Filho
Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ
João Carlos Correia
Universidade da Beira Interior - Portugal
Leonardo Souza Ramos
Professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC –Minas Gerais e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias (GPPM)
Rubens Pinto Lyra
Professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da UFPB
Editorial
Opinião | Pedro de Souza
Opinião | Marcos Costa Lima
Opinião | Rubens Pinto Lyra
Opinião | Túlio Velho Barreto
Opinião |Rômulo Santos e Inã Cândido
| 2
Índice
Comunicação na Web Opinião | Camilo Soares Prosa Real Opinião | Francisco Dominguez Opinião | Madhu Bhaduri | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 Acesse: facebook.com/ Jornalismoecidadania | issuu.com/revistajornalismoecidadania
Opinião | Gustavo F. da Costa Lima
Editorial
Por Heitor Rocha
No festival de mentiras que o país vem assistindo recentemente, causa vergonha a atuação do advogado Frederick Wassef ao se enrolar a cada novo malabarismo retórico para tentar explicar a sua obstrução de justiça escondendo por mais de um ano Fabrício Queiroz. Igualmente, espantoso o esforço do presidente procurando os jornalistas na passarela do Palácio do Planalto, para tentar convence-los enfaticamente que se referia na reunião ministerial à sua segurança pessoal e não à chefia da PF no Rio de Janeiro, para encobrir a intenção de evitar a investigação da milícia dos Bolsonaro, da rachadinha na lavagem de dinheiro e no envolvimento dos crimes dos ex-PM’s Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega e Ronnie Lessa, executor do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Também chama atenção a mentira perpetrada pelo general Luiz Eduardo Ramos, chefe do gabinete da Presidência, que no afã de agradar o capitão/chefe supremo chegou a dizer que a prova de que ele dizia a verdade sobre a intenção de mudar a sua segurança pessoal no Rio de Janeiro e não a superintendência da PF era que o patrão, quando falava sobre isso, olhava para o general Heleno (chefe da GSI), o que foi desmentido pela gravação que o mostrou, na realidade, olhando para o então ministro Sérgio Moro, na emblemática reunião ministerial de 22 de abril. Um papelão a que o ainda general da ativa se prestou a cumprir para ganhar um dinheirinho a mais. Essas descomposturas provocam, certamente, um incontornável constrangimento na maioria das pessoas sérias e honradas que compõem as categorias dos advogados e juristas, as Forças Armadas e a sociedade brasileira de uma maneira geral.
Enquanto a mentira ofensiva (fake news) pretende conseguir da vítima enganada algo que normalmente não conseguiria, a fala frouxa e a conversa fiada são modalidades de mentira defensivas em que o ator não consegue responder coerentemente acusações que lhe são dirigidas. De qualquer maneira, a mentira compromete a credibilidade da pessoa, cuja palavra fica desmoralizada conturbando a sua interação social. No caso do cidadão comum, fica inviabilizada a estabilização das expectativas quanto à dignidade de caráter necessária ao seu reconhecimento como membro legítimo da comunidade moral, condição imprescindível de uma sociedade civilizada. No caso de um político, sobretudo um presidente, essa falta de decoro esvazia a legitimidade de sua representação.
Esta questão pode parecer irrelevante para quem é cético e não tem compromisso com a busca para con-
ferir sentido à vida e ao mundo. Porém, Richard Nixon teve que renunciar ao cargo mais poderoso do mundo por conta da evidência pública de sua mentira sobre o envolvimento da Casa Branca na espionagem do escritório democrata no edifício Watergate e na “rachadinha” de dinheiro sujo para financiamento de sua campanha à reeleição. Na época, ficou famosa uma pergunta sobre a reputação do então presidente dos EUA: “você compraria um carro usado de Nixon”. No caso brasileiro, já se pode indagar: você compraria um carro usado de Bolsonaro?
Embora seja admirável a mudança de política editorial que a grande mídia vem agora desenvolvendo daquela que realizou desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, durante a blindagem que fez no governo tampão de Temer para evitar o seu julgamento e na eleição presidencial de 2018 para garantir a eleição de Bolsonaro, faz-se necessário realizar uma autocrítica, nem que seja superficial como a que Roberto Marinho fez de sua participação no Golpe de 1964 e do apoio dado à ditadura militar.
Além disso, precisa avançar no desempenho da função jornalística de investigar e fiscalizar os representantes políticos, superando a intimidação do governo federal para cobrar, por exemplo, que o poder o público do Distrito Federal multe o presidente pelo não uso da máscara, como fez com o ex-ministro da educação. No mesmo sentido, é preciso perguntar porque o governo federal nunca tocou no assunto do edital 13/2019 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando era presidido pelo atual ministro da Educação Carlos Decotelli, que pretendia gastar R$ 3 bilhões para distribuição de laptops em 355 colégios, com distorções, como, por exemplo, a oferta de 30.030 equipamentos para um educandário com 255 estudantes. Na Escola Chiquita Mendes (MG), cada aluno ganharia cinco laptops. A Controladoria Geral da União (CGU) descobriu esse “jabuti” e denunciou o edital. Mas o governo federal nunca apurou esse golpe nem a imprensa, efetivamente, cobrou. É preciso que a instituição jornalística supere o medo para cumprir adequadamente a sua função social.
Heitor Costa Lima da Rocha, Editor Geral da Revista Jornalismo e Cidadania, é professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 3
Opinião
A Pandemia, a economia e valor do trabalho
Por Pedro de Souza
A Pandemia da Covid-19 suscita muitas indagações, independentemente das suas consequências. À escala da história do homem, ela não é nada de extraordinário, pelo menos pelo que nos foi dado conhecer até agora, e supondo que disporemos de uma vacina dentro de um ou dois anos. O homem já enfrentou outros desafios muito mais perigosos, como a peste, para não falar das glaciações.
Porém, e mesmo que algumas dessas catástrofes tenham eventualmente eliminado “raças” humanas, como o Neanderthal, temos de aceitar o fato de que hoje existe apenas uma “raça” humana. A peste do século XIV, que eliminou cerca de 25% da população europeia, poderia ter destruído, digamos, a civilização ocidental, mas dificilmente teria posto em causa a totalidade das civilizações, dado que algumas delas existiam em isolamento das demais. Se o homem não souber responder às catástrofes por vir, a civilização poderá acabar, a vida humana sobre a Terra chegar a um termo. Não existe uma segunda opção de homem, hoje não poderemos invocar a inocência em razão da ignorância.
Diante da pandemia a reação praticamente unânime dos governos foi recomendar o “confinamento”. Mesmo nos EUA e no Brasil, se os governos federais fraquejaram, pelo menos uma parte dos governos estaduais tomou as providências possíveis, no sentido do confinamento. Essa decisão pelo confinamento implica a suspensão de boa parte da atividade econômica e é, que se saiba, inédita. É muito estranho e surpreendente, num mundo completamente dominado pelo discurso econômico, que os governos tenham tomado tal decisão.
Não vem aqui ao caso discutir a eficiência dessa decisão. O que observo é que diante de uma ameaça sanitária os governos provaram que levavam em conta a existência de um interesse maior, a vida humana. Parece-me que essa é, e será, a maior consequência dessa pandemia: ela lembrou, de forma lapidar, que havia algo acima da economia. Trata-se de uma evidência claríssima, de uma marca cultural, antropológica, a meu ver decisiva: a humanidade é uma só, e o seu maior valor, que tem de ser protegido e res -
peitado, é a sua sobrevivência.
Um aspecto que vem sublinhar esta questão é o fato de a doença ter surgido na China, um país de regime autoritário comunista/capitalista, conhecido até recentemente pela pouca importância dada à vida individual (pensemos na Revolução Cultural), e que foi o primeiro a parar a economia (embora apenas numa região do país). Este fenômeno atravessou não só as fronteiras geográficas, mas também as ideológicas.
Uma outra questão que vem ainda sustentar a excepcionalidade desta questão é o fato de a pandemia ter atacado de preferência lugares onde a atividade econômica é mais condensada, regiões fortemente industrializadas e poluídas, como o norte da Itália, e grandes cidades como Nova York. O vírus parece ter sido criado para provocar o maior estrago possível. Na Europa, isso se traduziu por um maior índice de infecção na chamada “banana”, que desde o Renascimento concentra a atividade econômica e cultural do continente, região que se estende do Norte da Itália a Londres, passando pela cidade de Paris, e vale do Reno até Hamburgo.
É claro, no entanto, que nem tudo são rosas. Dependendo dos países ou regiões, “parar a economia” foi relativo. Por razões óbvias, os serviços de força maior, como os ligados à alimentação e transportes, energia etc., foram mantidos. Em vários países, como na Itália, só numa segunda fase foram desativados todos os serviços “não essenciais” ou “não estratégicos”. Por vezes isso foi abafado, deixava-se a decisão das empresas sustar a atividade ou não. Para esses cidadãos não valia o confinamento.
Por outro lado, esta política não pôde ser aplicada em alguns países, devido à falta de recursos. Nos países onde a população vive, digamos “dia-a-dia”, consumindo o essencial para a sua sobrevivência no próprio dia em que o produz ou adquire, que coincidem em boa parte com aqueles em que a população tem péssimas condições de habitação e sanitárias, essa política não podia ser aplicada, assim como encontrou também dificuldades em países sem sistemas de saúde públicos minimamente equipados. Note-se que essas considerações nos permitem classifi -
JORNALISMO E CIDADANIA | 4
car numa mesma categoria países do chamado “quarto mundo”, e os EUA, ou ainda o Brasil. O que não deixará de ter consequências no futuro, no que respeita às migrações, por um lado, e por outro os próprios regimes políticos desse país e a sua capacidade de liderança. Obviamente podemos concluir daí que o fato de nesses países a vida humana ser considerada secundária, é mais uma causa do que uma consequência do seu subdesenvolvimento. No caso dos EUA, um dos países, junto com o Irã e a China, onde a pena de morte continua sendo aplicada rotineiramente, e simultaneamente um dos países supostamente mais ricos do mundo, isso é especialmente gritante.
Note-se também que esta atitude de salvaguarda da vida humana já vinha se manifestando em outras circunstâncias, como, por exemplo, no que respeita à guerra. Ultimamente os governos só enviam para as guerras tropas profissionais especialmente treinadas para isso, ou mesmo mercenários. A morte de um conscrito, numa guerra distante, como são hoje a maioria das guerras, é dificilmente suportada pela sociedade civil da maioria dos países desenvolvidos. Podemos datar esse traço social de comportamento talvez da guerra do Vietnã. Essa reação de salvaguardar a vida humana, numa sociedade que privilegia a guerra econômica, teria assim atingido o seu zenith no caso desta pandemia. No entanto, ainda em 1986, governos europeus esconderam da população as consequências do desastre de Tchernobyl e das radiações que se lhe seguiram.
Habitualmente os comentaristas ficam-se por esta observação, isto é, consideram “normal” que os governos protejam a vida humana. Afinal essa seria a mais poderosa razão para que esses governos tenham sido criados. No entanto, muitas situações nos provam que isso não é verdade. Considerar a salvaguarda da vida humana como o valor primordial não é algo “natural”. Quase nada é natural no homem.
Então, uma vez mais, podemos nos perguntar: por que esta reação de suspender a atividade econômica?
Deixaremos essa questão em aberto, mas sugerimos uma pista, que tem a ver com a atitude do homem face ao trabalho. Para um artesão, o trabalho é a sua vida. Não é apenas o seu sustento, mas “criando” um produto do começo ao fim, do empenho do artesão depende o sucesso do produto, e o reconhecimento social do seu criador. Ora, na nossa sociedade moderna a maioria das atividades são totalmente abstratas. As cadeias de produção foram totalmente fragmentadas, no tempo e no espaço: a peça sobre a qual o homem
exerce o trabalho vem muitas vezes de um país distante e desconhecido, apenas no momento em que o operário deve efetuar determinada operação sobre ela, e logo segue para um destino tão desconhecido quanto o da sua origem. Ou seja, o trabalho tende a ter uma ligação mínima com o trabalhador, uma relação sem significado, para além de prover o seu sustento. E não lhe fornece a mínima oportunidade de reconhecimento pela sociedade. Obviamente a “uberização” do trabalho é uma das expressões mais características dessa tendência, mas está longe de ser a única. O teletrabalho tende a transferir essa ausência de “valor” do trabalho manual para as profissões mais qualificadas. Ora, o valor do trabalho para o trabalhador é o produto do seu trabalho e o seu valor social, não o valor econômico.
Esta poderia ser uma das razões da opção pela suspensão da atividade econômica, por parte dos povos, e em consequência dos seus governantes, que não fariam mais do que exprimir uma atitude da sociedade. Suspende-se aquilo que deixou de “ter significado”. Creio, aliás, que uma das dificuldades desses governos será de fazer voltar a população ao trabalho. Mas claro que se trata apenas de uma hipótese, que de qualquer forma estaria longe de ser a única. E depois?
Passada esta pandemia, com suas trágicas consequências, é de crer que outros desafios para a humanidade se avizinhem. Seria desejável que as sociedades e os seus dirigentes se imbuíssem dos valores suscitados por esta pandemia para preparar as sociedades para as ameaças futuras, cada vez mais próximas. No entanto, a história nos ensina que não é isso o que geralmente acontece. É muito possível que esta vivência do confinamento e do risco apenas aprofunde as divisões entre os homens, todos eles procurando, no caos, a sua salvação.
Pedro de Souza é editor, pesquisador e exsuperintendente executivo do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 5
Opinião
Hipocrisia a todo Vapor
Por Marcos Costa Lima
“Todos precisam despertar. Se, durante um tempo, éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a terra não suportar a nossa demanda”.
Ailton Krenak
O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), talvez a mais credenciada instituição a aferir os gastos militares globais, ano a ano, afirma que estes gastos cresceram a 1917 bilhões USD em 2019. Conforme os novos dados, o total do ano de 2019 representou um crescimento de 3.6% com relação a 2018, o maior crescimento anual desde 2010. Os cinco maiores gastos, que representam 62% do total, foram os Estados Unidos da América, a China, a Índia, a Rússia e a Arábia Saudita (1). É a primeira vez que dois países da Ásia figuram entre os maiores investidores em gastos militares (2).
O gasto militar global em 2019 representou 2.2% do PIB mundial - o gasto militar global foi 7.2% mais alto do que em 2010 -, evidenciando que a tendência dos gastos acelerou nos anos recentes, segundo Nan Tian, pesquisador do SIPRI.
Os Estados Unidos da América são o país que mais gastou, um crescimento de 5.3 %, equivalendo a um total de $732 bilhões em 2019, atingindo 38% dos gastos militares totais. Este crescimento em 2019 se deve a uma perspectiva de retorno à competição dos grandes poderes, no caso os EUA a China e sua aliança com a Rússia.
A China e a Índia, por sua vez, o segundo e o terceiro em termos de gastos militares mundiais: a China com 261 bilhões em 2019, um crescimento de 5.1% comparado a 2018, e a Índia crescendo a 6.8 % de um total de 71.1 bilhões. A China como uma resposta aos gastos militares dos EUA, que envolve a crise comercial entre os dois países, enquanto a Índia, as tensões e rivalidades com o Paquistão e a China, segundo Siemon T. Wezeman, pesquisador sênior do SIPRI. Para além da China e da Índia, está o Japão, com $47.6 bilhões, e a Coréia do Sul com 43.9 bilhões de USD, sendo os maiores gastos militares na Ásia e Oceania, juntamente com India e China, que tem crescido desde 1989.
A Alemanha lidera na Europa, com um aumento de 10% em 2019, ou 49.3 bilhões em gastos militares. O crescimento dos gastos alemães, segundo a SIPRI, se deve, sobretudo, com relação à ameaça russa partilhada pelos demais membros da OTAN.
Com relação aos Estados Unidos, segundo Prashad (3), este país já possui o maior arsenal militar e a maior estrutura militar do mundo. Segundo os dados mais recentes, o governo dos EUA gastou mais que os 732 bilhões de dólares em 2019 em suas forças armadas, pois há utilização de fundos secretos para setores da inteligência que não são publicizados. Quase 40% dos gastos militares globais são feitos pelos EUA, que têm mais de 500 bases militares espalhadas pelos países do globo. A Marinha estadunidense tem 20 dos 44 porta-aviões ativos do mundo, enquanto outros aliados têm 21 deles; isso significa que os EUA e aliados têm 41 dos 44 porta-aviões (a China tem dois e a Rússia, um). Não há dúvida sobre a esmagadora superioridade de sua força militar. Em termos de teoria realista, este seria um fator decisivo para a hegemonia, mas não o único. Além do mais, os Estados Unidos estão usando toda a sua capacidade para expandir sua dominação nuclear e convencional para o espaço e para a guerra cibernética com seu Comando Espacial (restabelecido em 2019) e Comando Cibernético (criado em 2009). Os Estados Unidos desenvolveram um míssil balístico interceptador (SM-3) que foi testado no espaço e está experimentando armas sofisticadas como as de feixe de partículas, armamento baseado em plasma e bombardeio cinético. Em 2017, Trump anunciou o compromisso de seu governo com essas novas tecnologias bélicas.
O governo dos EUA gastará pelo menos 481 bilhões de dólares até 2024 para desenvolver novos sistemas avançados de armas, incluindo veículos autônomos, contra-drones, armas cibernéticas e robótica. O exército estadunidense já testou sua Arma Hipersônica Avançada, que pode viajar no patamar Mach 5 (aproximadamente 3.800 milhas por hora, cinco vezes a velocidade do som), para que possa chegar a qualquer lugar da Terra em uma hora; essa arma faz parte do programa Convencional Global de Ataque das Forças Armadas dos EUA.
O complexo militar dos EUA avançou seu programa de guerra híbrida. Este programa inclui uma série de técnicas para minar governos e projetos políticos, incluindo a mobilização do poder estadunidense sobre instituições internacionais (como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o serviço de informação SWIFT) para impedir que os governos administrem atividades econômicas básicas. Não é por nada que a China acaba de criar a sua moeda digital, como um passo importante para sair da esfera do dólar. Mas também os avanços dos EUA sobre a Venezuela e o Irã, que tem resistido bravamente, os EUA
JORNALISMO E CIDADANIA | 6
tem buscado envolver o Brasil na aventura imperialista de invasão da Venezuela, a partir do trágico governo de Bolsonaro, totalmente submisso aos EUA, ao ponto de nosso presidente bater continência à bandeira americana e ofender publicamente a China, que é o principal parceiro econômico do Brasil. Também tem se utilizado do poder diplomático para isolar governos, aplicando sanções para impedir que empresas privadas venham a fazer negócios com determinados países, como foi e tem sido as tentativas de inviabilizar globalmente a Huawei, empresa chinesa de alta tecnologia.
Além de realizarem guerras de informações para construir a imagem de certos governos e forças políticas como criminosas ou terroristas e assim por diante, financiado as fake news, que foram decisivas na eleição de Bolsonaro. Este poderoso complexo de instrumentos é capaz de desestabilizar governos e justificar mudanças de regime.
O governo dos EUA, ainda segundo Prashad, juntamente com seus parceiros da OTAN e fabricantes de armas dos EUA e da Europa, continuam inundando o mundo com as armas mais letais. Os cinco principais exportadores do ramo (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics) estão sediados nos Estados Unidos. Somente essas cinco empresas representaram 35% das 100 principais vendas de armas do mundo em 2018 (os números mais recentes); o total de vendas de armas nos EUA representa 59% de todas as vendas naquele ano. Isso significou um aumento de 7,2% em relação às vendas nos EUA em 2017. Essas armas são vendidas para países que deveriam gastar seu precioso excedente em educação, saúde e alimentação.
O que quero chamar atenção neste breve artigo é que um país que se proclama o grande hegemon vem evidenciando suas fragilidades, pois a força militar não é suficiente para o exercício da governança militar. A política de Trump de “A América em Primeiro Lugar” acabou por estabelecer uma “América Sozinha”, segundo os analistas internacionais. Desde o abandono dos EUA do Acordo Ambiental de Paris, envia uma mensagem inconfundível ao mundo, de que seus parceiros nada esperem de um populismo e nacionalismo radicalizados. A seguir foi a confrontação com a OTAN, ao afirmar que os europeus não estavam gastando o devido em matéria de defesa. Mas não ficou só aí: passou a confrontar a China, numa guerra comercial que não consegue sustentar.
Em 14 de abril deste ano, Trump ordenou o congelamento das verbas que os Estados Unidos, como principal doador, enviam para a OMS, enquanto analisa o papel do órgão no que definiu como “uma grave má administração e encobrimento da expansão do coronavírus”. Trump tem redobrado sua cruzada contra a OMS exatamente no dia em que os Estados Unidos ultrapassaram a cifra de 90.000 mortes pela covid-19 e mais de 1,5 milhão de casos confirmados, tornando-se o país mais afetado, de longe, pela pandemia. Em 08 de maio, afirmou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se portado como uma ma-
rionete da China.
Ao longo de mais de três anos na Casa Branca, Trump não vacilou em romper o consenso internacional ao retirar os Estados Unidos da Unesco, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e do pacto nuclear com o Irã. Fica mais evidente a cada dia que os EUA perdem liderança mundial.
Para concluir, em novembro de 2019, com um “Não acredito”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derruba 1.656 páginas de um relatório que detalha os devastadores efeitos da mudança climática para a economia, a saúde e o meio ambiente. Pouco ou nada importa ao mandatário que o estudo seja respaldado por 300 cientistas de 13 agências federais, e que sua preparação seja uma exigência legal.
Vivemos um momento dramático da humanidade. É necessário repensar o “american way of life” que vínhamos trilhando. O capitalismo e a hipervalorização do mercado reduzem nossas possibilidades de vida: o individualismo, a pobreza crescente, a falta de solidariedade, de criatividade, a cegueira sobre o fenômeno e as implicações da Covid-19 podem nos levar a destruição.
NOTAS:
1 - SIPRI, (2020), “Global military expenditure sees largest annual increase in a decade— says SIPRI—reaching $1917 billion in 2019”. 27 abril. file:///I:/Unidade%20de%20USB/ SIPRI/Global%20military%20expenditure%20 sees%20largest%20annual%20increase%20 in%20a%20decade%E2%80%94says%20 SIPRI%E2%80%94reaching%20$1917%20 billion%20in%202019%20_%20SIPRI.html
2 - A abrangente atualização anual do Banco de Dados de Despesas Militares do SIPRI está acessível a partir de abril 2020. www.sipri.org.
3 - Prashad, Vijay (2020). Em meio ao isolamento, uma atmosfera de guerra paira no ar.| in: Tricontinental, carta semanal, 21 de maio.
Marcos Costa Lima é professor do Programa de PósGraduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 7
Opinião
O voto dos evangélicos
Por Rubens Pinto Lyra
Sempre identifiquei, como virtudes cardeais do cristianismo, a caridade, o amor ao próximo, a busca da Justiça, a solidariedade com os pobres e oprimidos, acompanhadas da denúncia da injustiça, do luxo, da ostentação, do egoísmo e da intolerância. Dessa forma, não são poucos os que, como eu, até hoje, se interrogam sobre as razões pelas quais uma parte expressiva do eleitorado cristão — no caso, a maioria evangélica — pôde votar, para o cargo máximo da República, em um candidato que, mesmo tendo fugido dos debates, nunca deixou de proclamar, em alto e bom som, sua simpatia por regimes que torturaram, mataram ou perseguiram milhares de brasileiros. Voto que contribuiu, decisivamente, para a vitória do “Mito”.
Lembremos que Bolsonaro se manifestou sadicamente, na votação do impeachment de Dilma Rousseff, tripudiando sobre o sofrimento experimentado pela ex-presidente no período em que esteve presa durante o regime militar. Ele o fez ao exaltar, na oportunidade, a figura do torturador de Dilma, o Coronel Brilhante Ustra — o que mais se destacou, durante a vigência da ditadura, nessa repulsiva prática.
O ex-capitão também não escondeu suas posições sobre os direitos humanos, por ele sistematicamente criticados, nem disfarçou, em diferentes ocasiões, atitudes agressivamente machistas. E também externou concepções regressivistas, em matéria social, ao defender a falsa alternativa entre diminuição de direitos sociais ou desemprego. A perplexidade face à tão chocante escolha torna particularmente oportuno o estudo dos fatores psicossociais do voto depositado pelos evangélicos.
Entendemos que os condicionamentos psicológicos, no que se refere a esses fiéis, não são estranhos à doutrina dos dois maiores ícones do protestantismo: Martinho Lutero e João Calvino — semelhantes, na questão em análise, a despeito de suas muitas diferenças doutrinárias. Esses teólogos enfatizam a impotência do indivíduo face aos insondáveis
desígnios do Senhor. Para eles, apenas a vontade divina determina a vida das pessoas e dos acontecimentos históricos.
Calvinistas e seguidores de Lutero — mas não apenas estes — transferiram para o plano político, nas eleições presidenciais de 2018, esse sentimento de submissão incondicional, em momento de crise e de desesperança. Acreditavam que somente um demiurgo poderia evitar a derrocada econômica e social — o “Mito”, tal como o Füher, na Alemanha, e o Duce, na Itália. Com efeito, para luteranos e calvinistas, mesmo o pior tirano não pode ser contestado: se governa, é porque Deus quer. Nas palavras de Lutero, citadas por Fromm: “Deus prefere aguentar a continuação de um governo, por pior que seja, do que deixar a ralé rebelar-se, não importa quão justificada ela se ache para fazê-lo” (FROMM, 1970, p. 74). Essa mesma visão fatalista, de forma ainda mais acentuada, está presente em Calvino, para quem “os que vão para o Céu não o fazem, absolutamente, por seus méritos, assim como os condenados ao Inferno o são simplesmente porque Deus assim o quis. Salvação, ou condenação, são predeterminações feitas antes de o homem nascer” (CALVINO: 1928).
Tais concepções, que negam radicalmente a autonomia do indivíduo, abriram, nolens volens, o caminho para sua submissão às autoridades seculares — detentoras do poder de Estado. Estas, na atualidade, têm, preponderantemente, pautado suas políticas nos exclusivos interesses do capital. Elas visam à desconstrução do modelo socialdemocrata de Estado (o de Bem-Estar Social) e sua substituição pelo “Estado mínimo”, mero instrumento da política neoliberal das classes dominantes.
As concepções supramencionadas se afinam com as das mais destacadas igrejas evangélicas — pentecostais ou neopentecostais — inspiradas na chamada Teologia da Prosperidade, que valorizam o sucesso material, o acúmulo de riqueza e soluções puramente individuais para os problemas sociais. Essa
JORNALISMO E CIDADANIA | 8
adequação nem sempre se dá de forma consciente. Mesmo para os reformadores religiosos que comento teria sido inaceitável a ideia de que a vida do homem viria a transformar-se em meio para alcançar fins econômicos. Nas palavras de Fromm (1979, p. 75):
Conquanto o seu modo de encarar as questões econômicas fosse tradicionalista, o destaque dado por Lutero à nulidade do indivíduo contrariava essa concepção, abrindo caminho para uma evolução em que o homem não só deveria obedecer às autoridades seculares, mas igualmente subordinar as suas vidas aos fins de realização econômica.
De forma similar, a evolução da doutrina calvinista põe em relevo a ideia do sucesso na vida secular ser sinal de salvação, tema que mereceu a atenção de Max Weber (1970, p. 80) como sendo um importante elo entre a doutrina de Calvino e o espírito do capitalismo. Conforme lembra Ghiardelli, pastores das maiores igrejas evangélicas, alcunhadas de “caça-níqueis”, figuram entre as grandes fortunas do país. Nas suas palavras: “A onda conservadora de costumes no Brasil tem a ver com o crescimento dessas igrejas. Bolsonaro é, em grande parte, a sua expressão. O atraso cultural desse movimento é um líquido no qual ele gosta de se banhar” (GHIARDELLI, 2019, p. 78).
A ideologia de Lutero e de Calvino tornou-se hegemônica em várias igrejas, pentecostais e neopentecostais. O pastor de uma igreja — a Central Presbiteriana de Londrina — chegou a pedir explicitamente aos seus membros para assinarem o apoio à criação do novo partido de Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil (PACHECO, 2020). Desvela-se, portanto, o elo entre os aspectos autoritários das doutrinas dos teólogos acima mencionados e os de importantes setores evangélicos, apoiadores do capitão reformado, que promovem a adequação da ideologia religiosa aos valores do mercado. Como recompensa à contribuição de expoentes calvinistas à sua eleição, Bolsonaro nomeou, para o alto escalão de seu governo, alguns dos mais destacados entre eles, como o professor Benedito Aguiar Neto para a presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o pastor Sérgio Queiroz para a Secretaria de Desenvolvimento Social e o pastor Guilherme de Carvalho para a Diretoria de Promoção e Educação em Recursos Humanos (PACHECO, 2020).
Não podemos, decerto, olvidar que, a despeito das posições de Lutero e Calvino, acima descritas, o protestantismo surgiu, objetivamente, como um movimento de grande impacto, na luta por liberdade e por autonomia, no seio da Igreja Católica. Contudo, o estudo dessa questão extrapola o objetivo deste trabalho. Ele visa, tão somente, identificar os aspectos fatalistas da doutrina protestante, que favorecem, a nível político, a aceitação do autoritarismo e, no plano econômico, o ideário neoliberal. Tais aspectos conduziram a um notável retrocesso, especialmente em países como o Brasil, ganhando espaço considerável o neo-pentecostalismo, e, com ele, opções econômicas, morais e políticas de viés conservador. Simultaneamente, ficou evidenciada a severa diminuição, dentre os pastores, da qualidade de sua formação, que se dá, frequentemente, em apenas seis meses, enquanto a dos clérigos da Igreja Católica dura pelo menos cinco anos. Tudo isso concorre para que o “núcleo duro” do bolsonarismo tenha alcançado um expressivo número de evangélicos, mediante combinação deletéria de fundamentalismo, baixo nível cultural e concepção de religião impregnada dos valores do mercado.
REFERÊNCIAS:
CALVINO, João. Filadélfia: Institutes of Christian Religion. Filadélfia: Presbyterian Board of Christian Education, 1928.
FROMM, Eric. O medo à liberdade. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970.
GHIARDELLI, Paulo. A filosofia explica Bolsonaro. São Paulo: Casa dos Mundos, 2019.
PACHECO, Ronilso. Quem são os evangélicos calvinistas que avançam silenciosamente no governo Bolsonaro? Intercept Brasil, 20 fev. 2020.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 9
Rubens Pinto Lyra é Doutor em Direito Público e Ciência Política e Professor Emérito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: rubelyra@uol. com.br
Opinião
Futebol e política: torcidas antifascistas em defesa da democracia
Por Túlio Velho Barreto
Apesar do isolamento social estabelecido pela maioria dos governos estaduais e municipais, em atendimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia da Covid-19, acompanhamos, em maio de 2020, a retomada de mobilizações de ruas contra o fascismo e a expansão da extrema-direita, e em defesa da democracia no Brasil. E, no âmbito de tais manifestações, um “novo” ator político tem chamado a atenção das mídias, dos agentes públicos e de especialistas. Ou seja, a participação de torcidas organizadas de futebol mais tradicionais e ou de alguns grupos que atuam em seu interior e ou mesmo de torcidas organizadas criadas mais recentemente sob a bandeira do combate ao fascismo, as autodenominadas torcidas “antifas”.
Torcedores contra o fascismo. Do ponto de vista ideológico, as tradicionais torcidas organizadas não são homogêneas. Daí, não se pode generalizar e dizer que esta ou aquela torcida está participando das manifestações como entidade. Mas, sim, que segmentos antifascistas de determinadas torcidas estão envolvidos com os protestos e as manifestações, além daquelas torcidas organizadas que já foram formadas na origem como antifascistas, como aqui já nos referimos, no embate explícito contra a extrema-direita e suas formas de representação e atuação.
Com efeito, nesse momento, pelo menos, estão nas ruas aqueles setores mais politizados das torcidas organizadas e que, agora, se agruparam em torno da ideia de combater diretamente o fascismo e os manifestantes da extrema-direita. Como são pessoas, torcedores e torcedoras, que fazem parte de um grupo orgânico com reconhecidas táticas de enfrentamento ao oponente em espaços públicos, especificamente no campo futebolístico, sem dúvida, isso tem contribuído decisivamente para que se mobilizem de forma mais disciplinada e chamem mais a atenção do aparelho repressivo do Estado e de organizações e ativistas da extrema-direita brasileira.
E, no momento em que estamos em isolamento social, um segmento altamente organizado e combativo tem muito mais chance de se tornar a vanguarda dos protestos, na medida em que tendem a “puxar” outros segmentos já organizados, como coletivos feministas e movimentos antirracistas, por exemplo, contra o que representam o governo Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão e seus apoiadores ideologicamente mais radicais. Sobretudo porque os partidos e os movimentos sociais, e suas lideranças, não parecem estar muito dispostos ou à vontade para fazer o mesmo em função do isolamento social, além de terem
mais dificuldades de mobilização atualmente por causa dos desgastes que têm enfrentado nos últimos anos, o que inclui alguns dos atores políticos oposicionistas ao governo federal.
Sem futebol, o jogo vai às ruas. Neste momento, outra questão a considerar é refletir até que ponto esses segmentos de torcidas organizadas tradicionais ou essas torcidas claramente antifascistas estariam ou não nas ruas se as partidas de futebol também não tivessem sido suspensas. É difícil cravar um definitivo “sim” ou “não”. Entretanto, muitos estão esquecendo ou desconhecem que algumas dessas torcidas mais antigas surgiram ou ganharam a dimensão que têm hoje igualmente por razões políticas; quer por questões envolvendo os seus respectivos clubes, na luta contra um ou outro dirigente autoritário, por exemplo; quer por questões envolvendo demandas mais amplas, que extrapolavam, em certo sentido, o campo futebolístico, como aquelas ocorridas ainda nos anos 1970. De fato, no final dos anos 1970, houve manifestações nos estádios pela anistia política; no início dos anos 1980, ocorreram manifestações pela volta das eleições diretas para presidente da República, quando da campanha “Diretas Já”, capitaneada, no futebol, pela criação do movimento que ficou conhecido como “Democracia Corinthiana”, influenciado por dirigentes e simpatizantes do clube, como Adilson Monteiro (sociólogo) e Juca Kfouri (sociólogo e jornalista), respectivamente, e destacados jogadores, como Sócrates, Casagrande e Vladimir, entre outros; e, mais recentemente, contra a corrupção na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e nas federações estaduais, e a elitização provocada pela construção de arenas multiusos para a realização da Copa do Mundo da FIFA de 2014 no Brasil. E mais: ainda antes da pandemia, as “antifas” já vinham se manifestando no interior dos estádios contra o governo Bolsonaro-Mourão e o fascismo. Assim como algumas dessas torcidas protestaram contra a execução da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) com faixas nos estádios indagando quem a matou.
Agora, sem futebol, esses segmentos identificaram nas ruas a possibilidade de se manifestar contra o fascismo e os representantes da extrema-direita, que já as ocupavam de forma soberana. A razão de tomadas ou retomadas das ruas, portanto, por torcedores organizados parece estar no fato de a extrema-direita, fascista e antidemocrática, tê-las ocupado defendendo mais abertamente o retorno da ditadura civil-militar, sob o comando de Bolsonaro-Mourão,
JORNALISMO E CIDADANIA | 10
que a têm incentivado e defendido. São exatamente esses grupos que advogam pela edição de medidas autoritárias semelhantes ao Ato Institucional Nº 5 (AI-5), instituído em 1968, marco inicial do período da ditadura civil-militar (1964-1985) mais violento, os chamados “anos de chumbo” (1968-1975). E adotaram o modus operandi e os rituais de grupos extremistas norte-americanos racistas, como a Ku Klux Klan (KKK), ao carregarem tochas, por exemplo, como aconteceu em Brasília, durante manifestação a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Brasil e EUA: a mesma luta? Por último, mas não menos importante, é necessário refletir acerca da influência ou não de protestos ocorridos noutros países nas recentes manifestações no Brasil, como os antirracistas nos EUA, com ênfase naqueles iniciados pelas torcidas organizadas, ou por segmentos dessas, e pelas “antifas”.
Penso que, sim, a luta antirracista parece influenciar tais manifestações. No entanto, o fundamental aqui é destacar que vivemos, no Brasil, a convergência de uma peculiar e interminável crise política e institucional, que tem sua origem no golpe jurídico-parlamentar perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, que foi ampliada de forma exponencial pelo governo Bolsonaro-Mourão, e uma inédita e poderosa crise sanitária, que tem escancarado as nossas desigualdades sociais e econômicas. O certo é que, em um mundo globalizado, em que acompanhamos online os eventos que ocorrem em todas as partes do planeta, saber que há pessoas lutando contra qualquer forma de opressão tende a contribuir para mobilizar organizações, coletivos e pessoas na mesma direção ou perspectiva.
E, dentre os países de economias mais robustas e de evidentes relevâncias geopolíticas, os Estados Unidos e o Brasil são aqueles que são governados exatamente por presidentes com características e práticas autoritárias, no caso de Bolsonaro com um claro e forte discurso fascista, e no caso de Trump com um claro e forte discurso a favor de grupos extremistas, como os supremacistas brancos e aqueles conhecidos como All rigth e Unite all right, inspirados na já citada KKK. São governos e organizações que não respeitam nem aceitam a diversidade e a pluralidade, que têm perfis machistas, misóginos, racistas, preconceituosos e intolerantes, enfim.
A atual luta contra o racismo nos Estados Unidos é a continuação de uma luta secular em defesa dos direitos civis e da igualdade étnico-racial em todos os níveis, inclusive político, econômico e social, o que não difere substancialmente da luta que se trava hoje no Brasil. E, embora lá a atual motivação para as recentes manifestações seja o assassinato de George Floyd, um afrodescendente, por um policial branco, portanto, por alguém que representa o Estado, devemos lembrar que o contexto social vivido lá e aqui é o mesmo. Ou seja, o da pandemia, que tem escancarado tais desigualdades em ambos os países. Isso tende a criar uma identificação entre grupos que têm as
mesmas bandeiras políticas e o mesmo modus operandi; quer seja os que defendem o fascismo, o que já vem ocorrendo há um tempo, aqui e lá, e, agora, no Brasil, entre os grupos que se mobilizam contra o fascismo e em defesa da democracia.
Cenários. De forma prospectiva, poderíamos desenhar, aqui, diversos cenários. Porém, destaco aquele que considero o mais provável. Ou seja, o que aponta para a ampliação das manifestações de ruas antifascistas, como ou sem membros de torcidas organizadas, que talvez tenham apenas, e já seria muito, caso não se mantenham mobilizados, apontado um caminho, sobretudo no momento de esvaziamento das ruas como consequência do necessário isolamento social. Com efeito, já se observa o engajamentos de outros segmentos organizados contra alguma forma de opressão, como movimentos de mulheres e antirracistas.
Por outro lado, as manifestações da extrema-direita tendem, por enquanto, a refluir, em especial porque pelo menos setores das classes médias devem recuar diante de um oponente mais organizado e mais preparado para os embates de rua. Nesse caso, restarão os pequenos grupos militarizados, formados por fascistas convictos, uma perigosa minoria alimentada pelos discursos do presidente e vice da República, dos seus ministros militares e civis, que, assim, engrossam o caldo da crise política e institucional no contexto da crise sanitária. E parecem mesmo apostar no estabelecimento do caos e da desordem social para, enfim, criar as condições, ou melhor, as justificativas para uma intervenção das Forças Armadas, segundo o que desejam os saudosistas da ditadura civil-militar de 1964-1985.
Para usar uma linguagem tão em voga nesses tempos, pode-se dizer que, sequestrada em 2016, a democracia brasileira, configurada na Constituição Federal de 1988 e nos poderes constituídos, incluindo aí o Congresso Nacional e o STF, tem sido barbaramente torturada desde a chegada ao poder da dupla de militares e seus asseclas. Se sobreviverá, ainda não sabemos. O resultado desse jogo em muito vai depender dos atores políticos que compõem o Legislativo e a Suprema Corte, mas, sobretudo, dos que, nas ruas, não temem em resgatar a democracia de seus algozes. Portanto, trata-se de “jogo a ser jogado”, como é comum se ouvir em meio a torcedores e torcedoras de futebol. Esperemos que, ao final desse embate, não sejamos vítimas de um novo 7x1.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 11
Túlio Velho Barreto é cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).
Opinião
A distribuição desigual dos riscos pelo coronavírus
Por Rômulo Santos de Almeida e Inã Cândido de Medeiro
Com o alastramento exponencial do número de óbitos causados pela pandemia do coronavírus, tem circulado em diversos veículos de comunicação do Brasil a ideia de que os efeitos mortais da Covid-19 atingem todas as pessoas, grupos e classes sociais, sem distinção. Soma-se a este quadro turbulento o aumento da desinformação, da carência de acesso a fontes confiáveis e a canais de transparência pública que consigam fazer eco ao perverso negacionismo no qual o Brasil está mergulhado. Muitos lembram da comitiva de viagem do presidente Jair Bolsonaro, que voltou dos Estados Unidos infectada, e pensam que nada é mais “democrático” do que uma pandemia como esta. Os cruzeiros internacionais também seriam outra evidência para os mais céticos, além das contaminações e mortes de celebridades e empresários. Vivemos, infelizmente, não apenas uma crise sanitária, mas também política, econômica, cognitiva, moral e ética, que rasga de forma vil e autoritária os princípios e os valores democráticos.
Os diversos tipos de riscos estão diretamente vinculados com a dinâmica global; eles afetam nações, grupos e classes sociais sem respeitar fronteiras, como denunciou Ulrich Beck (2010), na sua célebre obra Sociedade de Risco.
A consagração da definição de risco como fenômeno característico de profundas mudanças culturais, econômicas, sociais e políticas, como definidor de um novo tipo de modernidade, só advirá em 1986, a partir da obra Sociedade de Risco: rumo a uma nova modernidade, do sociólogo alemão, Ulrich Beck. Este livro, publicado durante a semana do desastre nuclear de Chernobyl, em pouco tempo exerceu grande influência na opinião pública e na intelectualidade de diversos países. Embora a temática esteja presente na sociologia, a produção sobre o assunto vem crescendo nas últimas três décadas (ARNOLDI, 2009).
Na estrutura social, os perigos são distribuídos para todos os indivíduos, no interior do conjunto de espaço e tempo em que eles atuam. Portanto, a dinâmica do risco tem um lu -
gar para além das posições sociais e de classe. Não tem como negar que muitas dessas ameaças afetam todas as pessoas, inclusive aqueles que a provocam. Logo, ameaças – como o coronavírus – não são especialmente limitadas em seus efeitos, mas podem atingir sociedades inteiras.
Por outro lado, Ulrich Beck também destaca que existe uma distribuição desigual dos riscos. No início da pandemia, por exemplo, em diversas localidades, as classes mais abastadas, de fato, foram as mais atingidas. Mas, em um outro momento, o coronavírus passou a atingir em maior escala aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social mais sensível e acentuada. É o caso das comunidades indígenas, quilombolas, populações prisionais, entre outras.
Nos grandes centros, orientações de prevenção “simples”, como lavar as mãos e evitar aglomerações, são uma realidade distante para milhares de famílias moradoras da favela. As péssimas condições de moradia – denunciadas há mais de um século por autores como Friedrich Engels (2008), que analisou as dificílimas condições de vida da classe trabalhadora na Inglaterra – contribuem para a maior transmissão do vírus.
Muitas dessas pessoas que vivem nesses tipos de lugares relataram o esforço hercúleo de tentar tomar todos os cuidados de higiene e prevenção. Aproximadamente 13 milhões de pessoas vivem em favelas no país e muitas delas não têm acesso a saneamento básico. Segundo dados do Trata Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de água potável e 95 milhões não possuem acesso à coleta de esgoto em suas moradias. Contudo, devido à divisão das moradias, com seu espaço reduzido, e o tipo de material utilizado nas construções, os moradores frequentemente entram na casa um dos outros. Também é necessário frisar que uma parte dessa população tem que conviver com uma rotina diária de falta de água, sem contar em uma parcela significativa que está em situação de rua em várias cidades brasileiras.
JORNALISMO E CIDADANIA | 12
Mesmo que não exista a chance de não estar minimamente sob ameaça, o vírus atinge de maneira desproporcional os indivíduos. Sem qualidade de vida e direito à alimentação justa e adequada, parte da população mais vulnerável poderá ter a imunidade reduzida e outras comorbidades, aumentando o agravamento dos riscos (ZIEGLER, 2013).
A probabilidade de se contaminar ou receber tratamento e, consequentemente, sobreviver, infelizmente não são igualitárias (BECK, 2010). Como agravante, muitas pessoas estão na “linha de frente”, em diferentes situações. A maioria não pode se dar ao “luxo” de parar suas atividades. É o caso de médicos, enfermeiros e de vários trabalhadores, formais ou informais, que precisam de algum tipo de ganho financeiro imediato para o seu sustento e de sua família.
Em suma, a ideia de que o coronavírus pode ser democrático é equivocada. Na realidade, como afirma Boaventura de Sousa Santos (2020), essa “cruel pedagogia” da pandemia escancara os abismos sociais existentes em nosso país. E para piorar, as desigualdades estruturais que já são altíssimas devem se aprofundar ainda mais, pois irão impactar, direta ou indiretamente, nas condições de vida da população. Tendo em vista tal cenário é preciso pensar em modos de resistências, disputas de narrativas, articulações de políticas públicas e, mais do que isso, em tentativas de criar novas formas de vida que superem o modelo civilizacional, produtor e reprodutor de riscos incompatíveis com a vida no planeta.
REFERÊNCIAS:
ARNOLDI, J. Risk. Cambridge: Polity, 2009
BECK, Ulrich. Sociedade de risco rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010.
ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução B. A. Schumann. Editora Boitempo. São Paulo, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Coimbra: Editora Almedina, 2020.
ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: Geopolítica da fome. São Paulo: Cortez Editora, 2013.
Rômulo Santos de Almeida é Graduado (2013), Mestre (2017) e Doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Inã Cândido de Medeiro é Sociólogo e doutorando em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 13
Opinião
O telemarketing, a desumanização e a precarização do trabalho
Por Gustavo F. da Costa Lima
O telemarketing como atividade que utiliza os recursos das telecomunicações e da informática para venda de produtos e serviços e atendimento dos consumidores é um setor em grande expansão desde as décadas finais do século XX (STONE; WYMAN, 1992). Ele cresceu como decorrência da revolução tecnológica, da globalização neoliberal, da expansão de métodos de gestão flexíveis e da necessidade de a economia capitalista reduzir custos e acelerar o tempo de giro de circulação dos capitais investidos. Esse processo de expansão do telemarketing tem criado um novo proletariado de serviços, que os analistas têm denominado de infoproletariado ou cybertariat (HUWS, 2003; HARVEY, 2012; ANTUNES, 2014).
Este levantamento exploratório do setor de telemarketing objetiva refletir sobre dois aspectos que caracterizam a oferta de serviços de telemarketing no Brasil. De um lado, a baixa qualidade e os abusos ao consumidor envolvidos na prestação desses serviços. De outro lado, as precárias condições de trabalho e vida do elevado contingente de operadores de call centers no país.
Esses serviços, que se tornaram cada vez mais frequentes na vida cotidiana de todos os cidadãos consumidores, entram em nossa vida através dos serviços de telefonia celular, dos serviços bancários e de cartões de crédito, dos planos de saúde, das TVs por assinatura e do comércio eletrônico, entre outras possibilidades. De uma maneira geral, pode-se afirmar que são largamente insuficientes na resolução dos problemas solicitados, roubam tempo excessivo do consumidor, oferecem comumente opções que não atendem à necessidade das pessoas, abusam de práticas de procrastinação de cancelamentos e tornam cada vez mais escasso o atendimento humano, na medida em que respondem de formas robotizadas às demandas dos clientes. É essa experiência que, no presente artigo, denomino de microviolências cotidianas. E são violências porque agridem os direitos básicos e o bem-estar do consumidor, desperdiçam seu tempo e, na maioria das vezes, não oferecem as respostas que neles procuramos.
O resultado dessa relação, portanto, é uma in -
satisfação elevada do público, uma alta produção de estresse, um grande dispêndio de tempo do consumidor e, muitas vezes, a própria desistência do solicitante pelo cansaço ou pela falta de tempo disponível. Quem nunca se deparou com os abusos, ineficiências, frustrações e ou contrariedades diante dos atendimentos de telemarketing?
Diante do mal-estar resultante, é inevitável perguntar: por que todos nós, consumidores e cidadãos vitimados rotineiramente por esses abusos, aceitamos isso passivamente? Por que o sistema legal não legisla e fiscaliza adequadamente esses serviços? E por que as agências reguladoras não os regulam como seria de se esperar? Sobre as duas últimas perguntas, pode-se supor que os lobbies das empresas dos setores envolvidos nessa lógica de venda de produtos, serviços e de atendimento ao público, que é claramente contrária aos consumidores, administram esse conflito a seu favor, ocupando ou influenciando as posições de regulação desses serviços em prejuízo da maioria da população.
É necessário, contudo, observar o outro lado dessa relação perversa entre os agentes do mercado; o estado, que deveria exercer o papel regulatório; e os consumidores finais e considerar a realidade dos funcionários e trabalhadores que operam esses serviços.
Para ilustrar a expansão recente do setor de telemarketing no Brasil, Antunes (2014) acompanha o crescimento da Atento, uma das maiores empresas do ramo, sediada em São Paulo. A Atento começou suas atividades em 1999, com pouco mais de mil funcionários. No ano de 2003, já reunia uma equipe de 29.434 funcionários, sendo que, destes, 28.960 estavam envolvidos com as operações e, em 2013, saltou para um total de 84.131 funcionários. Ou seja, em 14 anos, essa empresa teve um crescimento aproximado de 84.000%. Embora não haja dados sistemáticos e em séries históricas, a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), estimava que, em 2012, mais de 1,4 milhão de trabalhadores encontravam-se empregados no setor (ANTUNES, 2014).
O perfil médio do profissional do setor é principalmente de jovens, com predomínio de
JORNALISMO E CIDADANIA | 14
mulheres, candidatos/as ao primeiro emprego e demais excluídos do mercado de trabalho. Uma parcela dessa população, próxima da metade da categoria, é representada por trabalhadores formais com carteira assinada, mas há uma alta percentagem de trabalhadores terceirizados entre eles, com vínculos precários de trabalho e recebendo salários inferiores aos formais e, em média, iguais ou pouco superiores ao salário mínimo. Diaz (2018), por exemplo, constata que 53% das empresas oferecem serviços terceirizados. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais, sendo que, das seis horas diárias, 15 minutos são reservados para almoço ou lanche e 5 minutos para ir ao banheiro.
Costa e Costa (2018) e Antunes (2014) caracterizam o telemarketing como um setor marcado por baixos salários, condições precárias de trabalho, elevada rotatividade, baixo índice de sindicalização, intensificação no ritmo de trabalho, sem garantias de progressão funcional, com alta incidência de doenças físicas e psíquicas e organizado sob regras neotayloristas de rotinização, disciplina estrita, controle, vigilância e cronometragem dos tempos de atendimento.
Inúmeros relatos demonstram as péssimas condições de trabalho a que são submetidos esses profissionais. Entre os principais problemas físicos, aparecem as lesões por esforço repetitivo (LERs), problemas na coluna e nas articulações, prejuízos à audição pelo excesso de horas com fones de ouvido e, muitas vezes, infecções urinárias associadas aos longos períodos sem poder usar o banheiro, devido ao controle e ao sistema de cumprimento de metas. Quanto aos problemas psíquicos, a maioria das narrativas são relacionadas a insônia, ansiedade, estresse, depressão e síndrome do pânico (ANTUNES, 2014; RICCI; RACHID, 2013). A questão da alta rotatividade no setor é, por sua vez, condicionada pelos problemas de saúde elencados e, ao mesmo tempo, pela baixa garantia de progressão e mobilidade funcional no interior dessas empresas.
Na capacitação que recebem no início do contrato, os/as teleoperadores/as são treinados/as a manterem certa entonação na voz, a seguirem um roteiro predeterminado em suas falas e a desenvolverem o controle das emoções para reverterem situações de agressividade, muito frequentes nos atendimentos que realizam.
A questão da produtividade e da competitividade são aspectos estratégicos dessas empresas. Nesse sentido, organizam campanhas para estimular a produtividade, conhecidas como um “incentivo motivacional”, para elevar a competitividade interna na empresa e em relação às ou -
tras empresas do ramo. Essas campanhas, assim, vão tentar reduzir aquilo que Marx denominou de porosidade do trabalho ou tempo morto. Essas expressões referem-se ao tempo em que o trabalhador está no local de trabalho, mas não está produzindo valor. O controle do grau de intensidade do trabalho é um dos focos da luta histórica entre empregadores e trabalhadores. Estes buscam reduzir o ritmo e a intensidade; aqueles, aumentá-los. Significa, portanto, que, quanto maior a intensidade do ritmo de trabalho, menores as possibilidades de os trabalhadores operarem em ritmos humanos que respeitem os tempos biológicos de respirar, comer, fazer suas necessidades fisiológicas, se relacionar com os companheiros de trabalho, trabalhar e repousar. No caso das teleoperadoras, a intensificação do trabalho vai se refletir nos seus ritmos biológicos que marcam a distinção entre saúde e doença (DAL ROSSO, 2008).
Do exposto, vê-se que o setor observado não respeita os direitos mínimos dos consumidores, ao oferecê-los serviços de péssima qualidade, como também não respeita os diretos e a qualidade dos seus trabalhadores. Essas são razões suficientes para que o público consumidor exija das empresas e do setor público que cumpram o papel legal e institucional que deles é esperado.
REFERÊNCIAS:
ARNOLDI, J. Risk. Cambridge: Polity, 2009
BECK, Ulrich. Sociedade de risco rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010.
ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução B. A. Schumann. Editora Boitempo. São Paulo, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Coimbra: Editora Almedina, 2020.
ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: Geopolítica da fome. São Paulo: Cortez Editora, 2013.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 15
Túlio Velho Barreto é cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).
Comunicação na Web
Jornalismo, Sociedade e Internet
Por Ana Célia de Sá

Algoritmos e notícia jornalística
O algoritmo tem provocado mudanças na produção, estruturação e circulação de conteúdos informativos na internet. Embora possa apresentar funções positivas, como rapidez, precisão, organização de fragmentos textuais e automação de atividades cansativas antes realizadas por pessoas, sua predominância tem apontado para um uso nocivo mediante filtragem de informações, personalização extrema e difusão dirigida, fatores que restringem a liberdade e a multiplicidade de olhares sobre a sociedade em nome de interesses econômicos, políticos e culturais, desembocando na formação de bolhas digitais.
Os algoritmos definem uma sequência finita de ações executadas pelo computador para atingir objetivos preestabelecidos pelo ser humano. “Os algoritmos, que constituem séries ordenadas
de instruções para executar determinadas tarefas, correspondem à lógica de funcionamento própria do computador” (CASTRO, 2017, p. 1). No ambiente on-line, eles assumem a tarefa de direcionar e agradar ao público em meio à imensidão de dados existentes na rede. Nessas condições, o algoritmo é demandado para rastrear, conhecer e satisfazer o usuário, usando a relevância como uma premissa e transformando as maneiras de produzir, propagar e consumir a informação.
Assim, as empresas do ramo digital têm moldado as atividades dos usuários da internet, conforme ressalta Pariser (2012, p. 46): “A busca da relevância gerou os gigantes da internet de hoje e está motivando as empresas a acumular cada vez mais dados sobre nós e a usá-los para adaptar secretamente nossas experiências on-line. Está transformando o tecido da rede. Porém, como veremos, as consequências da personalização sobre o modo como consumimos notícias, como tomamos decisões políticas e até como pensamos serão ainda mais drásticas”.
JORNALISMO E CIDADANIA | 16
Pixabay
Castro (2017) analisa o impacto do algoritmo na conceituação da notícia, sem endossar um determinismo tecnológico. Segundo esse autor, há uma flexibilização da notícia constatada quanto à produção, com o uso de inteligência artificial para tarefas de redação e com a relação colaborativa entre profissionais e público; quanto à distribuição, com canais de difusão controlados via códigos algorítmicos; quanto ao estatuto, isto é, à sua definição, com a ampliação do espaço noticioso e um menor rigor quanto à noticiabilidade e aos seus critérios; e quanto à contextualização, mediante classificação (divisão e agrupamento por áreas temáticas) e hierarquização (atribuição de ordem de importância com uso de técnicas de enquadramento). Em todas essas situações, é afetado o papel de mediação do jornalismo.
Com as redes sociais conectadas, este cenário ganha mais amplitude, já que a natureza relacional delas aumenta as atividades interativas e participativas entre os usuários, inclusive, na produção e no tráfego de notícias. É marcante a presença do algoritmo, que molda perfis e experiências a partir do histórico de cada usuário e de adaptações dinâmicas para acompanhar ações do presente.
Nas plataformas de redes sociais, conteúdos fragmentados e de fontes diversas estão acessíveis ao usuário. “Face a tais conteúdos, ele reage por meio de cliques, curtidas, comentários e compartilhamentos. Todas essas atividades de navegação são registradas, e a partir daí seu perfil vai-se delineando progressivamente. Com base nesse perfil, os materiais escolhidos para ser exibidos a ele são aqueles com maior chance de atrair seu interesse. Trata-se de uma customização dinâmica, posto que suas reações continuam a ser monitoradas e, com base nelas, seu perfil continua a ser redefinido. Nessa operação, são levados em conta não apenas os conteúdos propriamente ditos, mas igualmente os responsáveis por sua criação e difusão” (CASTRO, 2017, p. 11).
No contexto do jornalismo, a curadoria algorítmica de conteúdos nos sites de redes sociais interfere na mediação da mídia profissional, uma vez que os veículos de comunicação deixam de ser a última fronteira de difusão de suas próprias notícias. Esse papel é assumido por códigos computacionais, que delimitam o universo informativo do usuário a partir das preferências dele sem necessariamente buscar a idoneidade ou o equilíbrio da informação. Além disso, a filtragem social, realizada pelo público e por suas redes de contato, reforça a crise de confiança da sociedade em relação à mídia profissional e aos seus tradicionais padrões de distanciamento entre produtor e público. Mesmo assim, é importante lembrar que o jornalismo ainda man -
tém posição de destaque nas redes sociais, já que as páginas e os perfis de veículos nesses ambientes costumam ter grande número de seguidores e concentrar atenção.
A personalização realizada pelo algoritmo molda os fluxos de informação e pode levar à formação da bolha dos filtros. “A nova geração de filtros on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos – as coisas que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam – e tenta fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos deparamos com ideias e informações” (PARISER, 2012, p. 14).
As bolhas mudam a percepção da agenda social democrática, pois ressoam os pontos de vista e as preferências das pessoas que as compõem, desestimulando a diversidade no ambiente filtrado. Isso desequilibra o debate público e a tomada de decisões, além de abrir caminho para a desinformação, estimulada pelas notícias falsas (fake news) e pela pós-verdade. Esse cenário desmantela os princípios próprios do jornalismo e, assim, deve ser combatido. A educação para as novas mídias, a qual contribui para um real conhecimento do papel do algoritmo no ciberespaço, e o posicionamento ativo do usuário frente às novas tecnologias são essenciais neste processo.
Referências:
CASTRO, Julio Cesar Lemes de. A flexibilização da notícia na era dos algoritmos. In: Anais do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom. GP Teoria do Jornalismo. Curitiba: Universidade Positivo, 2017. Disponível em: <http:// portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/ R12-2755-1.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2020.
PARISER, Eli. O Filtro Invisível: o que a internet está escondendo de você. Tradução de Diego Alfaro. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
Ana Célia de Sá é jornalista e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM-UFPE).
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 17
Opinião
A potência do espetáculo Meia Noite contra o racismo estrutural
Por Camilo Soares
O espetáculo Meia Noite, de Orun Santana, é uma dessas obras que parece nada dizer, mas nos leva a lugares de reflexão além de sua abordagem direta. Um solo de dança, que leva o nome do pai mestre capoeirista e também bailarino, traça não apenas uma homenagem à pessoa paterna, mas ainda nos lança em uma incisiva ressignificação histórica do que é ser negro no Brasil. Como o anjo da história comparado por Benjamin a um quadro de Klee, Orun, mesmo que empurrado implacavelmente para o futuro, ousa virar as costas e olhar para trás, “enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu” (1994, p. 226).
Não à toa, a apresentação não tem começo: já entramos numa espiral sendo traçado no chão. Um movimento que não começa no pai e termina no filho, mas se perde em suas pontas, atravessa catástrofes e sorrisos, peso e humor. “O repouso absoluto não faz sentido”, já dizia Bachelard; tampouco faz sentido o de massa absoluta de um corpo em movimento no espaço-tempo. Tudo dança em movimentos relativos e concêntricos. A espiral plana desenhada para o ritual de Orun remete ao labirinto, como descreveu Ronaldo Correia de Brito, citando Borges, em artigo para a Revista Continente: “Retas galerias que se curvam em círculos secretos ao cabo dos anos” (Borges, 1996, p. 26 apud Brito, 2018).
São movimentos que perfuram narrativas íntimas e históricas. Não por acaso, Orun transpassa vários arquétipos brasileiros nos quais negros foram compelidos a se encaixar, sem, no entanto, moldarem-se completamente. Em posturas por vezes ambíguas, entrecorta por resignação e resistência, sensualidade e violência, o artista mapea a geografia de traços e ações atávicos dispersos no agora. Tal passagem não é didática nem cronológica, passando pelo menino do passinho, seguido pelo capoeira, pelo escravo, pelo vaqueiro, pelo passista de samba, pelo traficante morto em mais uma guerra cotidiana. Os tempos se misturam promiscuamente na desconstrução de uma hierarquização de valores, forjadora da perenização de estereótipos coloniais.
Orun descasca essa interiorização de valores decorrente de um fenômeno pré-racional, que parte do indivíduo e desencadeia, de forma se -
miautomática, no comportamento social; naquilo que Bourdieu chama de habitus. A partir de um estudo gestual meticuloso de tais arquétipos, o espetáculo Meia Noite revela sutilidades desse habitus assim como as formas de valorização e reconhecimento social apontadas por Taylor como fonte essencial de dignidade. Nessa conjunção é que Jessé Souza também revela o racismo intrínseco e velado no cotidiano do brasileiro, numa complexa escala valorativa de suas ações, disposições e escolhas. Para Souza, isso representa romper e superar a concepção mentalista da experiência social, através da relação corporal e do imaginário social de uma sociedade: “É esse imaginário social que permite a pré-compreensão imediata de práticas cotidianas ordinárias, permitindo um senso compartilhado de legitimidade da ordem social” (2018, p.144).
Os gestos de Orun não apenas expressam esse imaginário social, revelam também um corpo escapando da passiva reprodução de prestígio e desprezo sociais. Orun dança brega, frevo, mas também igbin (caracol) de Oxalá, abrindo a espiral para completar com adabi para Exu e o toque rápido e contínuo de alujá, toque de força para Xangô. Seus ritmos entrançam rizomas e amarram contextos, inexoravelmente políticos. Ao abrir uma bandeira, Orun saúda Moa do Katendê, mestre de capoeira morto a facadas por um eleitor de Jair Bolsonaro na noite do primeiro turno das eleições de 2018. O punho segue por extensão erguido para os jovens João Pedro, Ágatha Felix, mortos em operações policiais, ou o menino Miguel, que despencou do prédio da patroa da mãe enquanto essa passeava com o cão; ecoa num grito por justiça para Marielle e George Floyd e tantos que somaram nesse triste massacre hereditário.
Orun toca distintos berimbaus nos invocando para uma guerra histórica, uma guerra também íntima, de consciência e desmascaramento de atitudes depreciativas. O reconhecimento de fórmulas, palavras e costumes que perpetuam o racismo crônico de uma sociedade é o primeiro passo para ações efetivas contra essa violência. Às vésperas da Proclamação da República, só um ano após a Abolição da Escravatura no Bra -
JORNALISMO E CIDADANIA | 18
sil, Joaquim Nabuco já apontava que encarar e vencer a herança da escravidão é a única opção para a consolidação do País: “A escravidão não consentiu que nos organizássemos, e, sem povo, as instituições não têm raízes, a opinião não tem apoio, a sociedade não tem alicerces” (ALONSO, 2007, p. 132 apud GOMES, 2019, p. 33).
Felizmente, as alusões históricas no espetáculo não são sistemáticas, mas atravessam memórias e afetos por vezes submersos pelas ondas do tempo. Orun salta, grunhe rodando violentamente um sino no pescoço, requebra com humor e sensualidade, ginga se armando para a luta, densidade e identidade se desenhando à flor da pele. É um processo que José Gil observa na dança contemporânea, quando “o coro se assume como feixe de forças e desinveste os seus órgãos, desembaraçando dos modelos sensório-motores interiorizados” (2001, p. 153, apud PELBART, 2016, p. 33). A expressividade do corpo em Meia Noite é tal feixe de força liberto de automatismos que permeiam não apenas posturas físicas, mas naturalizam atitudes de opressão e submissão. Tais tensões de desarmes de imposições invocam um estado de autonomia e autenticidade pré-racionais, assim como num corpo sem órgãos proferido por Antonin Artaud em uma transmissão radiofônica de 1947: “Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade”.
Gilles Deleuze e Félix Guatari consideram tais automatismos como sistemas que nos aprisionam e cerceiam nossa potência e liberdade: o organismo, o significado e a subjetivação (ou submissão). Para eles, tais organismos são contrapostos pelo corpo sem órgãos, que, mais do que um conceito, é uma prática imanente de quebra de sintaxe corporal e política: “Arrancar a consciência do sujeito para fazê-lo um meio de exploração, arrancar o inconsciente da significação e da interpretação para fazê-lo uma verdadeira produção, não é seguramente nem mais nem menos difícil do que arrancar o corpo dos órgãos” (1980, p.198).
Orun fragmenta organismos com toques e passadas. Transforma o olhar com o crânio seco de um boi ou levanta as pernas enquanto o rosto desaparece numa cabaça sobre o chão. Sua dança não tenta esconder qualquer imagem, mas coloca sua imagem em perpétuo questionamento. Quebra primeiramente o que Quijano considera uma herança filosófico-religiosa eurocentrista: a dicotomia e hierarquia entre alma e corpo, cor -
po e razão, cultura e natureza, na qual o corpo/ natureza/mundo só podem ser visto como objeto do conhecimento do sujeito/razão. Tal racionalismo é, para Quijano, um perigoso paradoxo que justifica preconceitos e determina domináveis:
“De acordo com o mito do estado de natureza e da cadeia do processo civilizatório que culmina na civilização europeia, algumas raças […] estão mais próximas da ‘natureza’ que os brancos. Somente dessa perspectiva peculiar foi possível que os povos não-europeus fossem considerados, virtualmente até a Segunda Guerra Mundial, antes de tudo, como objeto de conhecimento e de dominação/exploração pelos europeus” (2005, p. 129).
Quando Orun perpassa por tantos arquétipos e símbolos do negro na sociedade brasileira, ele está recosturando o imaginário de uma identidade inevitavelmente relacional que Edouard Glissant chama de Todo-o-Mundo. Glissant propõe até uma nova noção de identidade, na qual “somente este imaginário pode nos fazer ultrapassar estas espécies de limites fundamentais que ninguém quer ultrapassar” (1995, p. 68). Para ele, a chave estaria na capacidade de captar o ritmo desse incomensurável. Orun parece apreender essa nova identidade, sempre em movimento, a partir da memória que permeia os gestos e vozes de hoje. Abrindo os braços para a história de povos e travessias, nunca perde a linha da sua própria ancestralidade. Em cada movimento, Orun segue e luta com seu pai e, reerguendo-se ao ritmo sem medida de sua identidade, segue a luta dele.
Camilo
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 19
Soares é Professor de Cinema da UFPE, fotógrafo e doutor pela Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Prosa Real
Livro-reportagem, jornalismo e contexto
Por Alexandre Zarate Maciel com colaboração especial
Vantagens do livroreportagem: perenidade, contextualização, aprofundamento
Para além do lucro que pode trazer para as editoras e os novos rumos profissionais que acena aos jornalistas, o livro-reportagem também apresenta, na opinião dos entrevistados pelo autor desta coluna (MACIEL, 2018), características como perenidade, contextualização, aprofundamento histórico e documentação de uma época que não são facilmente definíveis quando se trata da imprensa diária. Em todo o seu processo de produção, da apuração à publicação, os compromissos sociais e educativos do jornalismo parecem ressaltados no universo do livro-reportagem. O editor pioneiro da Alfa-Omega, Fernando Mangarielo, avalia que, tanto nos anos 1970 quanto neste novo século, o livro-reportagem continua mantendo características de “penetração rápida e ágil, pois tanto pode botar rapidamente o leitor dentro do ramo da ciência quando jogá-lo dentro de um problema nacional com repercussão internacional”. O editor considera como ameaçador para o repórter o “chicote do emprego e do salário no capitalismo da imprensa”, e, por isso, quando se vê inserido nas lógicas um tanto diferenciadas do livro, o jornalista pode exercitar mais seu compromisso social. “Antes o jornalista conhecia aquele fato que ele verticalizava. Mas depois ele começou a perceber que ele tinha que ampliar aquela visão.” Na ótica do publisher da Companhia das Letras, Otávio Costa, a narrativa do livro-reportagem, sobretudo biográfico, pode contribuir para a formação da memória nacional. Como normalmente são livros que “se pretendem extra-acadêmicos ou visam atingir um leitor maior”, acabam assumindo, por suas características gerais, o papel de divulgação histórica. Ele pondera que uma
biografia sobre determinada personalidade passa a ser a narrativa-padrão por algum tempo sobre aquela pessoa ou acontecimento que a cercou, chamando o leitor para refletir em conjunto.
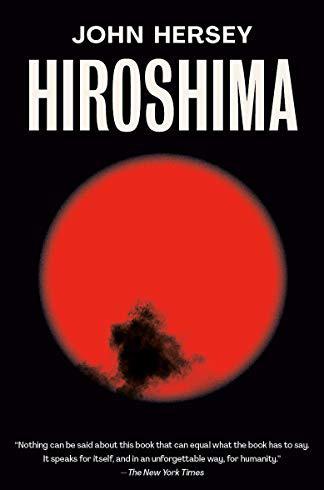
Jornalistas escritores comentam sobre longevidade de suas obras
Mas será que o livro-reportagem transcende mesmo alguns dos principais cânones do jornalismo diário, a periodicidade e a atualidade? Ou o livro escrito por jornalistas tem prazo de validade? Tendo escrito A ilha – que ganhou a sua 37ª edição em 2017, ao completar 41 anos, apesar de ser um relato da Cuba dos anos 1970 –, Fernando Morais acredita que o livro mantém a sua atualidade e o seu interesse por “ser o retrato de um país em um determinado momento”. Falando do seu livro O Afeganistão depois do Talibã, Adriana Carranca acredita que, em uma primeira análise, aquela visão pode se tornar datada com o
JORNALISMO E CIDADANIA | 20
tempo, mas, se encarada como o retrato vívido do que ocorreu com aquelas pessoas nos primeiros 10 anos sem aquele domínio, o livro torna-se um recorte histórico. “O leitor já vai sabendo que é aquele momento. Você vai lá buscar um livro sobre aquele momento da história.” Para Laurentino Gomes, o prazo de validade de um livro-reportagem depende do tema abordado: “O historiador do futuro vai ler esse livro como fonte de informação. Mas o leitor comum tende a ir perdendo interesse por ele à medida que esse assunto for ficando muito no passado”. Mas, no seu caso específico, em que trabalhou assuntos distantes no tempo, ocorridos no século XIX, o valor da efeméride faz com que, “provavelmente daqui a 200 anos”, alguém vai querer ler o livro 1808. “Lancei o livro 1822 em 2010. Daqui a alguns anos, a gente vai ter 200 anos da independência. O livro vai ter uma nova curva de vendas, oportunidade para você fazer uma nova edição ilustrada, atualizada, capa dura.”
Livros-reportagem que resistam ao tempo: debate polêmico
“O fato de um livro cumprir sua missão, seu objetivo, não quer dizer que ele seja eterno”, na visão do jornalista escritor Leonencio Nossa. Ele acha bom que um livro-reportagem que apresente a visão dos acontecimentos sob o prisma da época em que foi escrito seja complementado, com o tempo, com novos debates fomentados por outros trabalhos. “Mas um livro costuma ir muito a fundo e recuperar personagens que não vão mais dar depoimentos, porque foram morrendo. Então a tendência é que aqueles registros que você colocou no livro-reportagem permaneçam.” Mesmo assim, o mais importante, na sua opinião, é que, quando o jornalista apresenta ao leitor um “trabalho de fôlego, mais contextualizado, que traz múltiplos elementos, está ao mesmo tempo contribuindo para ser um farol para o dia a dia, para o debate público que é feito por meio do jornalismo”. Analisando mais ceticamente, pela perspectiva comercial, o biógrafo Lira Neto acredita que o livro-reportagem tende a ter uma vida curta no mercado editorial, a não ser que seja um livro como Hiroshima, de John Hersey, “que estará sempre em catálogo”. Tudo depende do tema escolhido e da forma como permanece atual, mas, na sua visão, “de uma forma geral, o ciclo de vida de qualquer livro está cada vez mais curto. Há uma curva natural de lançamento em que o livro sobe.
Mas, depois de um ano de lançado, a curva já baixa e cai de forma vertiginosa”. Diante desse fenômeno, o jornalista que quiser manter-se como escritor está, de certa forma, “preso a esta camisa de força, um negócio perverso, de estar sempre pensando na perspectiva de não poder parar de escrever o próximo livro”. O editor Otávio Costa lembra que alguns lançamentos, os chamados instant books, “livros sobre fatos de um décimo de segundo, algo de atualidade muito imediata”, naturalmente até podem durar, mas não precisam, pois só tratam de assuntos contemporâneos ao leitor. “Mas a nossa grande vocação e preocupação, como editora, é fazer livros que resistam ao tempo. Ainda que o contexto retratado em dez anos não seja mais o mesmo, a ideia é que o livro, por si, se sustente e permaneça uma leitura interessante, embora, entre aspas, desatualizada.” Já Fernando Mangarielo acrescenta que alguns livros-reportagem, por tratarem com profundidade de problemas humanos, sociais, têm a característica, por isso mesmo, de “ganhar a história”.
Referências:
CARRANCA, Adriana. O Afeganistão depois do Talibã. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta, 2007.
HERSEY, John. Hiroshima. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
MACIEL, Alexandre Zarate. Narradores do contemporâneo: jornalistas escritores e o livro-reportagem no Brasil. Recife, 2018. Tese (Doutorado em Comunicação)-Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
MORAIS, Fernando. A ilha: um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. São Paulo: Alfa-Omega, 1978.
Elaborada pelo professor doutor do curso de Jornalismo da UFMA, campus de Imperatriz, Alexandre Zarate Maciel, a coluna Prosa Real traz, todos os meses, uma perspectiva dos estudos acadêmicos sobre a área do livro-reportagem e também um olhar sobre o mercado editorial para esse tipo de produto, os principais autores, títulos e a visão do leitor
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 21
Opinião
Mercenary attack on Venezuela: What were the political objectives?
Por Francisco Dominguez
O telemarketing como atividade que utiliza os recOn May 3rd a bunch of mercenaries, led by Rambo-like US soldiers of fortune attempted to disembark on the coastal town of Macuto in the La Guaira state in Venezuela’s Caribbean coast, in a so-called Operation Gedeon. Their leader, ‘contractor’ Jordan Goudreau, CEO of US ‘security company’, SilverCorp, in interview with a Miami-based extreme right wing Venezuelan opposition journalist, explained Gedeon’s aim was to attack the presidential palace, kidnap or assassinate President Maduro and high officials in his government, bring about a coup d’état and install a de facto Guaidó-led government. Goudreau claimed to have deployed a mercenary force of 300 to carry out the military ‘mission’.
The legal and political framework for a military strike against President Maduro had been created by the US Dept. of Justice, and the full ‘regime change’ plan contained in the Guaidó-Goudreau contract’s appendixes involved tasks to be carried out by a successful coup d’état so enormous and multifaceted that unless the golpistas had at their disposal massive invading military forces, it could not be accomplished. The plan intended the complete dismantlement of the Venezuelan state brick by brick until its total demolition. Given the size of Chavismo in its tens of thousands of local committees, grassroots organizations, trade unions, women bodies, the 3.5-milllion strong people’s militia, the armed forces and much more, the dismantlement of the Bolivarian state would necessitate a gigantic social and political purge involving mass killings to a level that would make Pinochet look like a naughty school boy. The 41-page Appendixes of the Guaidó-Goudreau contract (1) stipulate among other tasks, for the military force in command – Goudreau – after the successful ‘regime change’ to stay for a preliminary period of 450 days, a year and a half, renewable depending on the evolution of the situation in the country. In short, US plans for Venezuela is total and thorough demolition of the Bolivarian state and for which Goudreau would be paid, to start with, US$212 million.
In page 3, there is mention to an Investors’ Group, who would put together the US$212 million, but because such a sum was not immediately available, Goudreau would request a bank loan to finance the preliminary operations and for which Guaidó commits his
government to pay it back with a 55% interest. When the mission had been accomplished, Goudreau would receive an extra bonus of about US$10 million.
The mercenary military force would constitute itself into a Military Task Force who would be under Guaidó’s direct command, but it with authority over all the existing military and police forces and the whole of the Civil Service. Thus, by virtue of the Guaidó-Goudreau contract, Goudreau’s Task Force becomes the most powerful body in the land.
The Task Force would declare hostile certain military forces (military, naval, air, police, etc. both conventional and non-conventional) associated with the V Republic (page 8) that have emerged and evolved with the 1999 Bolivarian Constitution that must be “neutralised”, i.e., assassinated. Furthermore, any military force loyal to Maduro in the eventuality of putting up resistance, must be eliminated (sic). Among key figures to be eliminated are Diosdado Cabello and forces loyal to him and to Maduro would be declared hostile and also eliminated (page 9).
By decision of Guaidó (page 9) as stipulated in the contract, Goudreau is authorised to order and approve any military attack and start any hostilities he deems necessary, against groups such as non-conventional troops, over any private or public buildings, weapons storage facilities, roads, motorways, any media, and he can also order attacks on buildings associated with the V Republic government that have been declared hostile (page 7). Thus, for example a building of the Housing Programme where a local cultural committee operates can be declared hostile and be attacked and eliminated. The same applies to thousands of such premises throughout the country that house trade unions, communal councils, local committees, cooperatives, and such like. That is, by virtue of the Guaidó-Goudreau contract the whole of the Chavista movement or anything that may resemble it can, to the prejudiced and racist eye of a Rambo-style gringo mercenary, be a military target for elimination. One can imagine armed extreme right wing Venezuelans ‘guiding’ members of the Task Force to attack just about any target as they themselves have done so many times during their guarimbas: health centres schools, universities, houses of the Housing Mission, crèches, and even burning dark-skinned people alive. Guaidó, additionally authorises the Task Force to make use of any lethal we-
JORNALISMO E CIDADANIA | 22
apon, including personal or other type of mines.
Confirming how much U.S. neocon propaganda influences the desired outcome, “Any person providing support to or a member of the following international terrorist organizations, or any group/cells/facilities associated therewith: ELN, FARC, Drug Cartels, Al Qaida, Hizballah, Hamas, Taliban…”(and about 10 other organizations in the Middle East) are deemed to be hostile forces and therefore targets for the Task Force (page 20).
Any form of disturbance, demonstrations, marches, etc., against the ‘regime change’ plan would be dealt with by force until the ‘disturbance’ is eliminated. Any civilian ‘involved in a criminal activity’ that interferes with the Force’s military mission can be arrested (page 15) and held prisoner with no legal rights. The Task Force can make use of force at any time, even lethal force. The Force would assume the role of security for Guaidó and his entourage, assistants and the golpista government. Furthermore, (page 21), the contract grants “all privileges, exemptions and immunities” from prosecution for the use of lethal force to the Task Group. The contract also grants the Force and its members the right to get in and out of the country without passport and are exempted from visa protocols, a SilverCorp staff card and a written authorisation from Goudreau would suffice (page 24). And SilverCorp would not be held responsible for any destruction or loss of life that occurs in the carrying out of the mission but were there to be any litigations emanating from the US, Venezuela or any other source, the ‘Venezuelan Guaidó state’ would cover all costs and, were the litigations to be lost, Guaidó would indemnify them financially (page 38).
If any member of the Task Force is wounded, killed or arrested, Guaidó commits himself to insure them by paying US$450,000 to their closest relative. And if any member of the Task Group loses a limb or eyesight during the carrying out of the mission they will be paid US$250,000 (page 28). Since U.S. mercenaries Berry and Denman have been captured, Guaidó already owes SilverCorp US$900,000
The chain of command in the golpista Guaidó government would be as follows: Juan Guaidó, Commander in Chief; Overall Project Supervisor, Sergio Vergara; Chief Strategist, Juan Jose Rendon; On Site Commander, To Be Determined. That is, the democratic institutional apparatus of the Bolivarian Republic would have been simply pulverised by a de facto rogue government supported militarily by a bunch of US mercenaries very likely with the collaboration of invited ‘friendly’ military forces from at least the US and Colombia. A bunch of 300 mercenaries have no chance in hell to carry out such a mammoth task as the dismantlement of the Bolivarian state apparatus. As with the April 2002 brief coup against Hugo Cha-
vez, all state institutions (National Assembly, Supreme Court, National Electoral Council, all ministries, the Ombudsman, the government, the Constitution, national sovereignty, all the armed forces, and so forth, would be simply dissolved). The difference is this time their dissolution would have been carried out by military force and the mass elimination of Chavistas.
Bolivarianism versus Barbarism - President Maduro and his government have responded to yet another US-inspired, and probably US-funded mercenary attack, with political calm and military efficiency. Reports tell that over 60 mercenaries have been rounded up whilst an intense search throughout the nation but especially the Caribbean coast is being combed inch by inch, and the border with Colombia is tightly secured. They have also responded by telling the truth and fully informing their people and the world through press conferences on national TV to journalists from all around the world. President Maduro himself has led the truth offensive. It is clear that whatever the level of unscrupulous cynicism of Trump, Pompeo, Abrams et al, there is no question they did not expect such a swift outcome favourable to Maduro. Nor probably did they expect such a crushing and humiliating defeat for the US mercenaries.
The Bolivarian government has submitted a formal accusation against the US in the International Criminal Court (ICC) in The Hague for all its aggression, sanctions and threats. On national TV President Maduro instructed Jorge Arreaza, minister of foreign affairs, to add the charges related to the US government involvement in the mercenary attack. Another accusation to the ICC will be presented by the Venezuelan government against Colombian President Duque and his government for his undeniable participation in Goudreau’s Rambo criminal adventure.
This is essential since the skilful diplomacy of the Bolivarian government has led to fruitful collaboration with various UN bodies, including the UNHRC Michelle Bachelet, but also the International Red Cross, the WHO, plus powerful international voices such as the Non-Aligned Movement, several Latin American countries, Russia, China and plenty of others. Additionally Venezuela enjoys worldwide solidarity support from trade union federations, mass political parties everywhere (particularly in Latin America), social movements, intellectuals and solidarity bodies. During the few days following the mercenary attack, hundreds of support messages came from all over the globe.
What is disgusting is the sickening silence of the European Union that has been so preoccupied with just about everything with Bolivarian Venezuela for the last decade at least, taking a highly negative stance and being led by the nose by Washington’s views and foreign policy on Venezuela. They took a skewed view
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 23
of US-led extreme right wing violent efforts to oust the democratically government of Venezuela in 2014 and 2017. The EU pretended it did not see Guaidó collaborating with criminal gangs of Colombian narco-paramilitaries in February this year to attend the Branson-led concert in Cucuta. Worse still the EU did not condemn the coup attempt led by Juan Guaidó and Leopoldo López on April 30 this year. By then, doubtful as Guaidó’s democratic credentials were (he was never elected nor did he even stand as a presidential candidate), yet most European governments recognise his thoroughly unconstitutional self-proclamation as ‘interim president’. The 30 April coup attempt ought to have been sufficient for European governments to withdraw that recognition. And now Guaidó contracts mercenaries with the explicit and written aim to kidnap a head of state and assassinate him as a prelude to establishing a de facto rogue military dictatorship with the declared aim to eliminate a whole mass national movement by the use of lethal force which is deemed genocide in international law yet European governments continue to recognise him as the ‘interim president of Venezuela’ and keep silent about the mercenary attack. Is the EU decomposing politically as well as falling apart?
Conclusion - The US continues with its ‘regime change’ policy through violent means against Venezuela but keeps failing. The mercenary attack took place within the context of the US Dept. of Justice indictment against President Maduro and high officials in his government for drug trafficking and narco-terrorism so as to create Panamanian conditions for US military intervention. However, they know Venezuela is not Panama and the US of 2020 is increasingly becoming a shadow of its 1989 self. Yet, US imperialism will persist because it desperately needs to lay its claws of the largest deposits of oil and gold in the planet but more importantly Venezuela’s resistance is a key obstacle in its efforts to fully reassert its hegemony regionally which would give it a better position to confront the formidable China challenge.
Therefore, our solidarity with the heroic Venezuelan people must be redoubled and we must demand, echoing international voices such as UN General Secretary, Antonio Guterres and Pope Francis I, the immediate suspension of US sanctions against Venezuela during the period of the pandemic so as to allow Venezuela to engage in financial transactions to purchase food, medicines and vital health inputs, essential to combat Covid-19 and keep saving lives.
The international labour movement should call upon the US to stop interfering in the internal affairs of Venezuela, a fully sovereign and proud nation, and demand the immediate and unconditional return of all assets and resources illegally confiscated to the Venezuelan state by the
Trump administration. By 22th May 2020, the US has about 1,6 million people infected with Covid-19 with over 95,000 deaths, nearly double the deaths of US Marines for the entire Vietnam War, whilst Venezuela has 822 cases of infection (about 300 from returnees all who are in quarantine and with full medical attention), with 10 deaths. The US ought to abandon its wasteful an criminal ‘regime change’ efforts against Venezuela and instead concentrate on saving US lives and allow Venezuela the breathing space to continue with saving Venezuelan lives.
This applies to Europe where some financial institutions are illegally retaining Venezuelan assets to the tune of over US$5 billon (notably Venezuelan gold in the Bank of England). They should be immediately and unconditionally returned to its legitimate owner, the state and people of Venezuela.
There is no legal or political justification on earth for the EU to continue its untenable policy of recognising Juan Guaidó as ‘interim president’ of Venezuela when de facto they work with the Bolivarian government of President Maduro, especially now that Guaidó’s criminal credentials have been (again) conclusively proved.
US Hands Off Venezuela! Trump Fight the Pandemic Not Venezuela!
NOTAS:
1 - See attachments to the General Services Agreement between the Venezuelan opposition and Silvercorp, Washington Post, 7th My 2020,
https://www.washingtonpost.com/context/read-theattachments-to-the-general-services-agreementbetween-the-venezuelan-opposition-and-silvercorp/ e67f401f-8730-4f66-af53-6a9549b88f94/
JORNALISMO E CIDADANIA | 24
Francisco Dominguez é Professor da Universidade de Middlesex / Inglaterra.
Opinião
New Delhi 1979-1983
Por Madhu Bhaduri
Something unexpected and dramatic happened in May 1979. A pot which had been simmering boiled over. This was during the time when Atal Behari Vajpai was Minister for External affairs and Jagat Mehta was Foreign Secretary. All the 40 women officers in the Foreign Service received a letter from the Foreign Secretary urging them to choose between their career and their family. The letter said that it was to convey a ‘warning’ from the Foreign Minister to women officers that they should not ask for ‘preferential treatment’. That there were 7 husband and wife couples in the Service who sought postings if not at the same place then close by so that family life is not disrupted. When conveying this stern ‘Warning’, it did not occur to the Minister, the Foreign Secretary or the head of Administration (S.K. Singh) that the letter should also have been sent to the men spouses (among the 7 couples) who were equally responsible for causing administrative discomfort to the ministry as the women. The letter complained that women officers asked for favours like postings in comfortable ‘A’ stations implying, that men didn’t do so. The Irony was that the letter itself was addressed to women officers serving in Conakry, Suva, Lagos and Karachi, none of which were comfortable ‘A’ postings.
It was then and perhaps still is (I hope) to a lesser extent now, taken for granted that working women are “eating their cake and having it too”. They have the pleasure of family life and in addition they have a job outside the home. How unfair of them! Men have always combined the pleasure of having a family with having a job. It is regarded as normal not as “eating your cake and having it too”.
The Foreign Secretary clarified in his 3 page long letter that “the intention is not to insist on resignation from the Foreign Service when lady members get married”. He was referring to a rule which was followed in earlier years. His own wife had to resign from Service when she married him. Subsequently, resignations were not demanded but women had to get ‘permission’ before they got married. Men didn’t have to do that. Jagat Mehta’s letter said that ‘’the ministry could go back to demanding resignation from women officers”. This bomb which was served to all the women officers in this letter of ‘Warning’ got an equally explosive response from the women who demanded that the letter should be withdrawn because it was downright discriminatory. It violated the Constitution of India which
gave equality to women.
There was in those days just one journalist who used to take up issues relating to gender justice. She was Rami Chabra, a columnist in Indian Express. I did not know her but on my way home knocked on the door of her elegant house. I remember her reaction after she read the letter from the Foreign Secretary and then our rejoinder to it. She turned to me and asked very seriously: “Are you sure you want to make this public? You might be asking for trouble. Have you thought of that?”
Beginning with her the issue got wide coverage. Journalists from all newspapers began asking questions. Many of them irrespective of what they wrote largely shared the view of women wanting to eat their cake and have it too. One of our own woman colleagues in the Foreign Service strongly objected to having had the letter served to her. Arundhati Ghose said that she did not belong to the ‘problem creating females’ because she was not married. As for our men colleagues in the Foreign Service, most of them were tight lipped. Prakash Shah ‘offered’ to take up the matter ‘appropriately’ with the Foreign Secretary on our ‘behalf’. Did he really think that women were incapable of talking on the subject; that they needed a male lawyer to take up the issue with the Foreign Secretary? In short there was confusion at many levels which might seem even funny in hindsight now.
Some of us, on the other hand also sought support from women IAS officers. Here we met with disappointment. My own batch mates in the administrative service were reluctant to even engage in a discussion on the issue of gender discrimination. One of them, whose husband was also in the service, frankly admitted that if she came out against gender discrimination in the Foreign Service, she may face problems at the time of her next posting. Some where there lurked a feeling among women officers that they were not quite equal and certainly vulnerable; so it was better to remain silent and invisible.
There were some very senior IAS officers like Anna Malhotra who was scathing in her criticism of the Ministry. In an informal get together of women officers, she opened the subject of double standards in our homes. Early in her marriage, once after dinner her husband had asked her “don’t you know how to make any other type of pudding?” to which she had asked him
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 25
in return “and how many puddings can you make?” Along with the laughter that followed her remarks, tumbled out similar instances which others present had stashed away in their own silent dark corners. In that sense Jagat Mehta’s letter to women officers acted as a catalyst, which set in motion questions at many levels; in offices and homes.
Our rejoinder to the Foreign Secretary evoked quite a commotion in the establishment. Although the Foreign Secretary’s letter was not officially withdrawn after the storm which followed it, the issue raised by it was silently buried. The Formal burial of ‘seeking resignation from women officers’ had to wait till the end of a legal battle which the government of India was fighting with Ms C B Muthamma, the first women IFS officer of the 1948 batch who had filed a petition in the Supreme Court alleging gender discrimination in the Service of which she was a victim.
Muthamma was the topper of her batch and her record in service had been outstanding. Still she was denied promotion to the senior most, Grade- 1, purely on grounds of gender bias and hostility. I was associated closely with her case even before she decided to file the petition and had accompanied her to discussions with lawyers about the pros and cons of filing a petition.
I recall vividly the suspense with which I waited for the judgment on the day it was expected to be delivered. She was at that time posted as ambassador to The Hague. Around lunch time I stepped in the room of T.P. Srinivasan, a colleague who was in the administration and would have received news about the judgment. Even before I opened my mouth he declared triumphantly that the court had rejected Mutamma’s petition. This came as a blow to me. Somehow I was not convinced and wanted to lay my hands on the Judgment for which I went to see my friend and colleague Meera Kumar (who later resigned from service, joined the Congress Party and became Speaker of the Lok Sabha). Meera’s husband who was working in the administration of the Supreme Court procured a copy of the Judgment delivered by Justice Krishna Iyer. Far from rejecting the petition the Judge had made a strong and scathing indictment of the government for what he said in his judgment was: “misogynist rules and blatant gender bias”.
At the heart of his judgment, Justice Krishna Iyer said: “what is more manifest as misogynist in the Foreign Service is the persistence of two rules which have been extracted in the petition. Rules 8(2) of the Indian Foreign Service (conduct and discipline) Rules 1961, unblushingly reads…………At any time after marriage, a woman member of the service may be required to resign from service if the government is satisfied that her family life and domestic commitments are likely to
come in the way of her due and efficient discharge of her duties as a member of the service.” This rule was indeed the basis of the letter addressed by the Foreign Secretary to all women officers.
The judge went on to say that “Discrimination against women in traumatic transparency is found in this rule” He also said: “If the family and domestic commitments of a woman member of the service is likely to come in the way of the efficient discharge of duties, a similar situation may well arise in the case of a male member.” We had said the same thing in our rejoinder to the letter of the Foreign Secretary.
The Judgment was equally scathing in the violation of articles 14 and 16 of the Indian Constitution by Foreign Service rules. It said: “. ...it is a sad reflection on the distance between Constitution and law in action.”
While the court proceedings were going on Mutamma had been promoted. But justice was not done to her. Referring to this Justice Krishna Iyer said “The central government states that although the petitioner was not found meritorious enough for promotion some months ago, she has been found to be good now, has been upgraded…..During the interval of some months before her first and second evaluations some officers who were junior to her had become senior”
The Judgment recommended that “Her case with particular focus on seniority deserves a review vis-a-vis those junior to her who have been promoted in the interval of some months. The sense of injustice rankles and should be obliterated”. This recommendation of the judgment proved to be impossible to be acted upon by a highly gender biased government. The sense of injustice rankled.
In order to rectify the falsehood being circulated by the ministry that Mutamma’s petition had been rejected by the Supreme Court, I was able with the help of sympathetic colleagues to get cyclostyled copies made of The Judgment of Justice Iyer and had it distributed as widely as possible. Rami Chabra wrote a long column on it in the Indian Express which reached Muthamma by diplomatic bag.
I received a frantic telex message from her asking me why I had not sent a copy of the judgment to her. Muthamma’s name had been left out in my list. On my part, I had taken it for granted that her lawyer would telex it to her on the day that it was delivered. All I could do at this late stage was to make sure that the next weekly diplomatic bag to The Hague carried to Mutamma the Supreme Court judgment on her petition. The irony is that she was the last one to receive it.
After reading it and getting news of it from others who had received it before she had, Mutamma wrote me a letter expressing her fear and concern about the price which she expected would be extracted from me for sticking my neck out. The fact is that this whole episode strengthened my friendship with Muthamma
JORNALISMO E CIDADANIA | 26
which was a reward for me.
Justice Krishna Iyer’s judgment gave a formal and befitting burial to Foreign Secretary’s letter of warning to women officers that government was ever ready to demand their resignation.
Another refreshing outcome of the commotion created by the Foreign Secretary’s letter to women officers and our rejoinder to it followed by Justice Krishna Iyer’s indictment of the blatant gender bias practiced by government was that I received two unknown visitors who infused a new element in my routine bound life. This was Subhadra Butalia, a feminist activist and her young daughter Urvashi who later made a name as a writer, humanist and a feminist publisher. Subhadra was fighting a much bigger battle against the scourge of dowry deaths which were rampant at that time.
Hardly a week passed between reported cases of beating, burning and killing of young women for not bringing expected amounts of dowry. Subhadra and her small group used every means to raise awareness about domestic oppression and dowry killings. They would perform street plays. Subhadra composed songs. She sang and played the dholak. Her powerful voice and catchy music attracted crowds and her group enacted the violent scenes which were everyday happenings. The street plays were followed by interaction with the audience. Her dedication was complete and flawless; all the more because she did not crave publicity.
Some of us from the Foreign Service ( Meera Shankar, Parvati Sen and myself) and from the Administrative Service ( Kalyani Choudhuri of the West Bengal cadre) joined Subhadra, Urvashi and their friends to form a women’s group called ‘Karmika’. We had regular meetings either in Subhadra’s house or mine. Over time we moved from awareness of dowry deaths to cases of rape. Subhadra’s help was being sought by victims of dowry and rape cases. The inadequacy of legal remedies to fight gender injustice was part of her life and soon became part of the focus of our group. It was a shocking revelation to hear from the then chairman of the Law Commission when we went to meet him that the Indian Evidence Act did not recognize the statements given by a rape victim as ‘legal evidence’. If she is robbed, a women’s evidence is counted but when she is raped her evidence is not legally admissible.
We began meeting with representatives of women’s groups to discuss the need to change the Evidence Act which was crassly unjust to victims of rape. There came a stage when after almost a year of preparation, Karmika called a meeting of Women’s groups, which included front organizations of almost all political parties from Right to left and Centre on this issue with the purpose of building a consensus to change the Evidence Act. The meeting was very well attended. The
room in Subhadra’s house could just about accommodate the participants packed in it. I presided over the meeting which began with Subhadra explaining the issue clearly as was done to us by the chairman of the Law Commission. One by one the representative of organizations of political parties expressed their opposition to changing the Evidence Act. Clearly they were voicing the opinions of the political parties which they were representing. Their gender identity found no expression over their political identity. It was buried too deep to make an appearance in conflict with party lines. Irrespective of Right Left or Centre male identity dominated the discussion. I was very disappointed. A few months after this, I was to leave for my posting to Mexico. Subhadra had it seemed to me expected this turn of events and was not one to give up. She was not only much older than me she was patient and much wiser.
Alone she plodded along working for the cause. Several decades later the Evidence Act was changed. Subhadra Butalia finally won the battle. The evidence of rape victims was made legally admissible.
In 1985 I came to Delhi on home leave and found that Subhadra had opened an office to provide free legal aid to women in need of it. One of my school friends was a beneficiary of it. Subhadra’s enthusiasm and refusal to give up even when she found herself alone is still an inspiration to those who knew her. I last met her at a get together organized by Mutamma in 2001 to celebrate the appointment of Chukila Iyer as the first woman Foreign Secretary; a position that was unfairly denied to Mutamma almost twenty five years earlier.
Madhu Bhaduri has Master’s degree in Philosophy from Delhi University (1965) and joined the Indian Foreign Service in 1968, starting her diplomatic career in Vienna in 1970. She served as a diplomat in Hanoi, Mexico City, Vienna and Hamburg and was India’s ambassador to Belarus, Lithuania and Portugal.
Revista Eletrônica do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade - PPGCOM/UFPE | 27