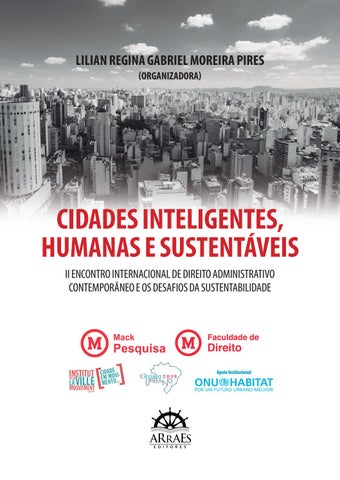LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES (ORGANIZADORA)
CIDADES INTELIGENTES, HUMANAS E SUSTENTÁVEIS II ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE
Apoio Institucional
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade
LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES (Organizadora)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade
Belo Horizonte 2020
CONSELHO EDITORIAL Álvaro Ricardo de Souza Cruz André Cordeiro Leal André Lipp Pinto Basto Lupi Antônio Márcio da Cunha Guimarães Bernardo G. B. Nogueira Carlos Augusto Canedo G. da Silva Carlos Bruno Ferreira da Silva Carlos Henrique Soares Claudia Rosane Roesler Clèmerson Merlin Clève David França Ribeiro de Carvalho Dhenis Cruz Madeira Dircêo Torrecillas Ramos Edson Ricardo Saleme Eliane M. Octaviano Martins Emerson Garcia Felipe Chiarello de Souza Pinto Florisbal de Souza Del’Olmo Frederico Barbosa Gomes Gilberto Bercovici Gregório Assagra de Almeida Gustavo Corgosinho Gustavo Silveira Siqueira Jamile Bergamaschine Mata Diz Janaína Rigo Santin Jean Carlos Fernandes
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal Jorge M. Lasmar Jose Antonio Moreno Molina – Espanha José Luiz Quadros de Magalhães Kiwonghi Bizawu Leandro Eustáquio de Matos Monteiro Luciano Stoller de Faria Luiz Henrique Sormani Barbugiani Luiz Manoel Gomes Júnior Luiz Moreira Márcio Luís de Oliveira Maria de Fátima Freire Sá Mário Lúcio Quintão Soares Martonio Mont’Alverne Barreto Lima Nelson Rosenvald Renato Caram Roberto Correia da Silva Gomes Caldas Rodolfo Viana Pereira Rodrigo Almeida Magalhães Rogério Filippetto de Oliveira Rubens Beçak Sergio André Rocha Vladmir Oliveira da Silveira Wagner Menezes William Eduardo Freire
É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora. Impresso no Brasil | Printed in Brazil
Arraes Editores Ltda., 2020. Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho Produção Editorial e Capa: Danilo Jorge da Silva Imagem de Capa: Pexels (Pixabay.com) Revisão: Raquel Rezende 341.3 E56 2020
Cidades inteligentes, humanas e sustentáveis: II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade / [organizado por] Lilian Regina Gabriel Moreira Pires. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020. 351 p. ISBN: 978-65-86138-47-4 ISBN: 978-65-86138-46-7 (E-book) Vários autores.
1. Direito administrativo. 2. Sustentabilidade. 3. Cidades inteligentes. 4. Cidades sustentáveis. 5. Corrupção pública. 6. Transparência administrativa. 7. Ecomobilidade. 8. Smart cities. I. Pires, Lilian Regina Gabriel Moreira (Org.). II. Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade, 2. CDDir – 341.3 CDD – 341.347 Elaborada por: Fátima Falci CRB/6-700
Matriz Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000 Tel: (31) 3031-2330
Filial Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé São Paulo/SP - CEP 01006-000 Tel: (11) 3105-6370
www.arraeseditores.com.br arraes@arraeseditores.com.br Belo Horizonte 2020
Autores
ALESSANDRO SOARES Professor de Direito Administrativo e Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca USAL (Espanha). Doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO Mestre em Direito do Estado. Professora da Escola Paulista da Magistratura. Coordenadora do NEDU – Núcleo de Direito Urbanístico da EPM. Juíza de Direito em São Paulo. Coordenadora da Célula de Soluções Estratégias do Grupo de Administração Legal (GEAL) do CRASP (Conselho Regional de Administração de São Paulo). ANA CARLA BLIACHERIENE Advogada. Parecerista. Professora de Direito da USP no curso de Gestão de Políticas Públicas. Livre-docente em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito USP. Mestre e doutora em Direito Social pela PUC-SP. ANA FLÁVIA MESSA Doutora em Direito Público pela Universidade de Coimbra. Doutora em Direito Público pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Direito Tributário. Membro do Conselho Editorial da International Studies on Law and Education. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogada e Consultora Jurídica ANDREA MARTINESCO Doutoranda em direito de novas tecnologias na Universidade Paris-Saclay (Laboratoire DANTE, UVSQ). É servidora do Ministério Público Federal. Projeto de pesquisa financiado pela CAPES (processo nº 99999.012973/2013-00). V
ANTONIO CECILIO MOREIRA PIRES Advogado e consultor jurídico em São Paulo, doutor e mestre em direito do estado pela Pontifícia Universidade católica de São Paulo – PUCSP, professor de direito administrativo, coordenador adjunto e chefe do núcleo temático de direito público da Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, tendo no decorrer da sua carreira exercido os mais diversos cargos públicos nas administrações públicas municipal, estadual e federal. CAIO CÉSAR LAZARE GABRIEL Advogado – Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) com habilitação em direito e desenvolvimento. Integrante dos Grupos de Pesquisa: Direito Administrativo Contemporâneo e Direito Internacional Público – DIPMack. Integrante da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/ SP. Participante do curso de extensão da Lei Geral de Proteção de dados e os seus aspectos jurídicos na Universidade Presbiteriana Mackenzie. CARLOS VILAS BOAS Advogado. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Mestre em Direito Administrativo pela Escola de Direito da Universidade do Minho. MBA (Master Business and Administration) pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. Pós-graduado em ciências jurídico-empresariais pela Universidade Católica Portuguesa. DEBORA SOTTO Doutora em Direito Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2015) com Pós-Doutorado pelo Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (2018). Pesquisadora, em sede de pós-doutorado, no Programa USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (desde 2019). Procuradora do Município de São Paulo (desde 2003). EDUARDO STEVANATO PEREIRA DE SOUZA Mestre em Direito Administrativo e especialista em Direito Tributário. Professor titular de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor titular do Curso Euro-Brasileño de Postgrado sobre Contratación Pública – Faculdade de Direito da Universidade de La Coruña (Espanha). Membro do Instituto de Direito Administrativo Paulista (IDAP). Membro Fundador do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (IBEJI). Membro do Conselho de Redação da Revista Brasileira de Infraestrutura (RBINF). Membro da Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Advogado. VI
FÁBIO RAMAZZINI BECHARA Professor dos Programas de Graduação e Mestrado/Doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado e Global Fellow no Woodrow Wilson International Center for Scholars (EUA). Líder do Grupo de Pesquisa “Direito Penal Econômico e Justiça Internacional” na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisador Colaborador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Foi Professor Visitante na Universidade de Wisconsin – Madison. É membro do GACINT – Grupo de Análise de Conjunturas Internacionais da Universidade de São Paulo. Foi coordenador do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi Secretário Executivo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Estado de São Paulo. Promotor de Justiça em São Paulo. FLÁVIO DE LEÃO BASTOS PEREIRA Professor de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor convidado da Escola Superior do MP/SP. Doutor e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra (Instituto Ius Gentium Conimbrigae/IGC) e IBCCRIM. Egresso do International Institute For Genocide and Human Rights Studies (ZoryanInstitute), University of Toronto (Canada). Membro do rol de especialistas da International Nuremberg Principles Academy (Alemanha). Membro do Comitê Acadêmico da Fundación Luisa Hairabedian de Direitos Humanos (Buenos Aires/Argentina). E-mail: professorflaviobastos@gmail.com. GILBERTO PEREZ Doutor em Administração. Professor do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, SP. GRACE LAINE PINCERATO CARREIRA Advogada, Jornalista e Produtora. Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2011) e em Jornalismo pela Universidade de Sorocaba (2002). Especialista em Propriedade Imaterial, Direitos Autorais, Propriedade Industrial, Direitos da Personalidade e Comunicação com habilitação para Docência pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP (2015). Presta assessoria jurídica para projetos culturais e artísticos. Ministra oficinas e workshops na área de Direito Autorais, Direito de Imagem, Gestão Pública e Cultura. Atuou por 16 anos na área de gestão cultural no Projeto Oficinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Membro da Comissão de Direito Urbanístico – OAB/ SP como coordenadora do Núcleo de Patrimônio Cultural e Desenvolvimento VII
Urbano. Recebeu prêmio Itaú – Mackenzie 4º lugar com a monografia “Sobre o Direito Constitucional à tutela do patrimônio cultural imaterial: por uma aplicação do regime jurídico da propriedade intelectual”. IRENE PATRÍCIA NOHARA Livre-Docente e Doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. Professora-Pesquisadora da Graduação e do Programa de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. ISABEL CELESTE M. FONSECA Prof.ª da Escola de Direito da universidade do Minho. JÔNATAS RIBEIRO DE PAULA Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela London School of Economics and Political Science (LSE) e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Desde 2017, é Analista de Programas no ONU-Habitat em Alagoas, onde trabalha como ponto focal para a implementação da Iniciativa de Prosperidade das Cidades em Maceió. Trabalhou no Instituto Pólis (2016-2017) com planejamento estratégico, advocacy e comunicação no projeto Global Platform for the Right to the City. Atuou no ONU-Habitat Sri Lanka (2016) na avaliação de projetos habitacionais na capital Colombo, com foco em ações de mobilização social, financiamento, design das moradias e infraestrutura social. Trabalhou também no Consulado Geral da Dinamarca (2010-2014) como conselheiro para energia, meio ambiente e saneamento, onde liderou projetos de cooperação estratégica no setor de saneamento entre Brasil e Dinamarca. Foi também voluntário da ONG TETO Brasil (20072009), onde foi diretor responsável pelo planejamento de mobilização social e realização de pesquisas socioeconômicas junto a comunidades em assentamentos precários na Grande São Paulo. JOSÉ POLICE NETO Vereador em São Paulo. JULIANA ABRUSIO Doutora em Filosofia do Direito pela PUC-SP. Mestre pela Universidade de Roma Tor Vergata. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados. LEANDRO PIQUET CARNEIRO Professor do Instituto de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas (NUPPs) da Universidade de São Paulo. VIII
Coordena o programa de extensão da USP, Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial (REDPPOL), desenvolvido com o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA). Foi professor do Departamento de Ciência Política da USP (2000 a 2009) e pesquisador visitante do Taubman Center da John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2006-2007). É economista graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem especialização em métodos quantitativos de pesquisa pelo Inter University Consortium for Political and Social Research (ICPSR) da Universidade de Michigan. É Mestre e Doutor em Ciência Política pelo IUPERJ do Rio de Janeiro e fez seu pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da USP. Foi membro de conselho editorial da Revista Opinião Pública e do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Opinião Pública CESOP da Universidade Estadual de Campinas entre 1994 e 2012. Foi membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro (2011-2016) e integra atualmente o Conselho Gestor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Conselho Municipal de Segurança Pública do município de São Paulo e coordena o Conselho Consultivo do programa Brasília Vida Segura do Governo do Distrito Federal. LEONARDO GUANDALINI FRANCHI Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Atuação jurídica na área de Direito Administrativo e Infraestrutura. Monitor do grupo de extensão Mackcidade: Núcleo de direito e espaço urbano da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do grupo de pesquisa de Direito Administrativo Contemporâneo da mesma instituição. LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES Advogada, Doutora e Mestre em Direito do Estado pela PUC/SP, professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenadora do MackCidade: direito e espaço urbano. Presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SP (triênio 2019/2021). MARCELO CHIAVASSA DE MELLO PAULA LIMA Professor de Direito Civil, Direito Digital e Direito da Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Civil pela PUCSP. Especialista em Direito Civil Italiano pela Universidade de Camerino. Especialista em Direito Contratual pela PUCSP. Advogado com foco na regulação de novas tecnologias e do impacto das novas tecnologias na sociedade. Membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SP. IX
MARCOS CESAR WEISS Doutor em Administração. Pesquisador no tema Cidades Inteligentes apoiado pelo processo nº 2017/22229-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). São Paulo, SP. MARIA HELENA ZUCCHI CALADO Gerente de Sustentabilidade do inpEV. Engenheira Química formada pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em Administração Industrial e MBA em Gestão de Negócios. MARÍLIA GABRIEL MOREIRA PIRES Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialização em curso em Direito Processual Civil no Damásio Educacional. Participante dos cursos de extensão da Lei Geral de Proteção de dados e os seus aspectos jurídicos na Universidade Presbiteriana Mackenzie e do curso de extensão da Proteção de dados para o Setor Público na Universidade do Minho. Monitora do grupo de extensão Mackcidades: direito e espaço urbano da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do grupo de pesquisa de Direito Administrativo Contemporâneo da mesma instituição. Integrante da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SP. MICHELLE BARRÊTO VENTURINI Tradutora e artista visual.Pesquisadora de linguagens e tecnologia. Universidade Paulista, SP.Diretora de Relações Internacionais e Diretora Paraná na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. NELSON SAULE JR Advogado. Doutor e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor de direito do curso de graduação e de direito urbanístico no programa de direito da pós-graduação na mesma instituição. Coordenador da Área Direito à Cidade do Pólis - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, Coordenador de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico-IBDU, Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP e Comissão de Direito urbanístico da OAB/ SP. Coordenador da Revista Magister Direito Ambiental e Urbano. Autor de várias publicações e estudos sobre direito urbanístico. OLÍVIA DE QUINTANA FIGUEIREDO PASQUALETO Doutora e mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito USP. Graduada em Direito pela USP. Advogada. Professora universitária. X
PAULA MONTEIRO DANESE Advogada. Professora de Direito do IBMEC, Universidade São Judas Tadeu e Anhembi Morumbi. Doutoranda e Mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Largo São Francisco (FD/USP). RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA Advogado. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie-SP e Doutorando em Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo. Consultor Jurídico. RANGEL PERRUCCI FIORIN Mestre e Doutorando em direito tributário pela PUC/SP. Professor de direito tributário nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Membro Efetivo da Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB/SP. Advogado e Consultor Jurídico. RENATA DA ROCHA Doutora em Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP. Mestre em Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/ SP. Especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra – Portugal. Graduada em Direito. Graduada em Filosofia. Professora de Biodireito, Filosofia de Direito e Linguagem Jurídica da UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora de Biodireito e Bioética na Pós-Graduação em Direito Médico – Escola Paulista de Direito – EPD. Membro da Comissão de Biotecnologia e Estudos sobre a Vida da OAB/SP. Membro Consultivo do Comitê de Bioética do Hospital do Coração – HCOR. Coordenadora do Curso de Extensão em Biodireito e Bioética: Dilemas Acerca da Vida Humana oferecido pelo Hospital do Coração – HCOR. Autora das obras “O Direito à Vida e a Pesquisa Científica em Células-Tronco: Limites Éticos e Jurídicos” Ed. Campus Elsevier; “Fundamentos do Biodireito”. Ed. Juspodivm, 2018. “Conselhos Profissionais, Conselhos de Medicina e Comitês de Bioética: atribuições, contribuições e limites”. co-autoria. Saraiva, 2018. STELLA HE JIN KIM Advogada com experiência em Direito Civil, Direito Empresarial, Direito de Tecnologia e Proteção de Dados Pessoais, formada em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e graduanda em Defesa Cibernética pela FIAP. XI
Sumário
APRESENTAÇÃO................................................................................................... XVII INTRODUÇÃO....................................................................................................... 1 Capítulo 1
BIG DATA, INTERNET DAS COISAS E AS CIDADES INTELIGENTES Juliana Abrusio........................................................................................................... 5 Capítulo 2
A IMPORTÂNCIA DAS BASES DE DADOS ABERTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CIDADES INTELIGENTE Marcelo Chiavassa de Mello P Lima; Stella He Jim Kim........................................ 19 Capítulo 3
CIDADES INTELIGENTES: SEUS DADOS NÃO SÃO BEM PÚBLICOS – CONFIANÇA E EXPECTATIVA DO USUÁRIO NO PODER PÚBLICO Caio César Lazare Gabriel; Marília Gabriel Moreira Pires..................................... 31 Capítulo 4
E.GOVERNAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS: A CAÓTICA PERSPECTIVA PORTUGUESA (RECTIUS, EUROPEIA) Isabel Celeste M. Fonseca............................................................................................. 45 Capítulo 5
PODER LOCAL E TECNOLOGIA EM CIDADES INTELIGENTES VISÃO PORTUGUESA E EUROPEIA Carlos Vilas Boas........................................................................................................ 59
Capítulo 6
UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PLANOS DIRETORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA INICIATIVAS DE CIDADES INTELIGENTES Marcos Cesar Weiss; Gilberto Perez; Lilian Regina Gabriel Moreira Pires............. 73 Capítulo 7
TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA MATERIAL – INSTRUMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DAS CIDADES INTELIGENTES Ana Flavia Messa....................................................................................................... 83 Capítulo 8
O FINANCIAMENTO DAS SMART CITIES: COMO OS ESTADOS PODEM SE ORGANIZAR PARA CONSTRUIR UMA PLANTA DE CIDADES INTELIGENTES? Ana Carla Bliacheriene; Olívia de Quintana Figueiredo Pasqualeto....................... 97 Capítulo 9
AS CIDADES INTELIGENTES E A TRIBUTAÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL Rangel Perrucci Fiorin................................................................................................ 107 Capítulo 10
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PPP E CIDADES INTELIGENTES Eduardo Stevanato Pereira de Souza......................................................................... 117 Capítulo 11
AS CONTRATAÇÕES DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PELO PODER PÚBLICO Antonio Cecílio Moreira Pires.................................................................................... 127 Capítulo 12
INOVAÇÃO E SEGURANÇA: PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA O MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ATIVIDADES CRIMINOSAS ORGANIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO Fábio Ramazzini Bechara; Leandro Piquet Carneiro............................................... 137 Capítulo 13
CALÇADAS CAMINHÁVEIS: MOBILIDADE DEMOCRÁTICA Leonardo Guandalini Franchi; Marília Gabriel Moreira Pires............................... 167 XIV
Capítulo 14
OPERAÇÕES URBANAS E INDICADORES INTELIGENTES José Police Neto............................................................................................................ 179 Capítulo 15
LOGÍSTICA REVERSA E ECONOMIA CIRCULAR Maria Helena Zucchi Calado.................................................................................... 189 Capítulo 16
O PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2030: DESAFIOS NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS Paula Monteiro Danese; Rafael de Oliveira Costa.................................................... 201 Capítulo 17
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECOMOBILIDADE: A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM ZONAR URBANAS Andrea Martinesco; Lilian Regina Gabriel Moreira Pires....................................... 215 Capítulo 18
INOVAÇÃO EM ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO CLIMÁTICA PARA CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES Debora Sotto................................................................................................................ 227 Capítulo 19
LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS: UMA (RE)SOLUÇÃO URGENTE PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS NO BRASIL Michelle Barreto Venturini......................................................................................... 235 Capítulo 20
PÚBLICAS EM CIDADES INTELIGENTES: PARA UMA CIDADE BRASILEIRA SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA Alexandra Fuchs de Araújo......................................................................................... 245 Capítulo 21
DIREITO À CIDADE COMO O CORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES HUMANAS E INCLUSIVAS Nelson Saule Jr............................................................................................................ 255 Capítulo 22
CIDADE INOVADORA E MULTICULTURAL COMO INSTRUMENTO DE ENFRENTAMENTO À EXCLUSÃO Flávio de Leão Bastos Pereira..................................................................................... 265 XV
Capítulo 23
DESIGUALDADE URBANA, ESTADO DE BEM-ESTAR E INSATISFAÇÃO DEMOCRÁTICA Alessandro Soares......................................................................................................... 277 Capítulo 24
CATALISANDO TRANSFORMAÇÕES URBANAS POR MEIO DE DADOS – A ATUAÇÃO DO ONU-HABITAT EM MACEIÓ, ALAGOAS Jônatas Ribeiro de Paula............................................................................................ 289 Capítulo 25
GRAFITE E A TRANSFORMAÇÃO REGULADA DO ESPAÇO URBANO: GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NA CIDADE Irene Patrícia Nohara................................................................................................. 305 Capítulo 26
PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO: UMA ABORDAGEM INTRODUTÓRIA Grace Laine Pincerato Carreira................................................................................. 317 Capítulo 27
II ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE: CIDADES INTELIGENTES, HUMANAS, SUSTENTÁVEIS E A NOVA AGENDA URBANA Renata da Rocha......................................................................................................... 327
XVI
Apresentação
A cidade de São Paulo chega em 2020 com aproximadamente 12 milhões de habitantes. O crescimento do maior centro urbano do Brasil acontece de forma desenfreada, com pouco ou nenhum planejamento, causando dissabores como falta de mobilidade, enchentes, ilhas de calor, rios poluídos, entre outros. Esses problemas enfrentados pelos paulistanos não estão apenas no cerne da ocupação dessa cidade, mas revelam-se como um problema mundial dos grandes centros. Por esse motivo o assunto é tratado de forma universal no Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), que trabalha com todos os temas relacionados à vida nas cidades e com todos os tipos de atores, como governos (federal, estadual e municipal), universidades, ONGs e demais instituições do terceiro setor e setor privado. Questões como planejamento e desenho urbano local e metropolitano, legislação urbana, solo e governança, economia urbana e finanças municipais, habitação e assentamentos precários/informais, serviços básicos urbanos (água, saneamento, energia, mobilidade urbana e resíduos), segurança urbana e espaços públicos, empoderamento de mulheres e jovens nas cidades, participação cidadã, desenvolvimento econômico local, mudanças climáticas e resiliência, gestão e redução de riscos de desastres e reabilitação, indicadores urbanos, pesquisa e desenvolvimento de capacidades são parte do Projeto das Nações Unidas (https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/). Esses problemas se tornam desafios nas mãos dos autores desta obra, que são parte dos grupos de pesquisa “Direito Administrativo Contemporâneo”, “Poder Econômico e seus limites jurídicos”, “Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania”, que juntamente com o Programa de Extensão “Mack cidade: núcleo de direito e espaço urbano” formularam XVII
hipóteses e estudaram soluções que resultaram no II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os desafios da Sustentabilidade: Cidades Inteligentes, Humanas, Sustentáveis e a nova Agenda Urbana. O evento contou com o apoio e financiamento da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), cuja identidade institucional é a concretização de seu papel social com o fomento da educação, da cultura e do livre pensar para fora dos muros da universidade. A obra não poderia vir de outra coordenação que não da Professora Lílian, cuja experiência no assunto passa não apenas pela pesquisa acadêmica, mas transcende a experiência do seu trabalho diário, há anos, junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), sua assessoria na Superintendência do DER/SP, além da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos dos Sistemas de Transportes de Passageiros – CMCP e a Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, onde atua como presidente. Assim, parabenizo a organização da obra na pessoa da Drª Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, que se dedica ao tema há anos, sem perder de vista os elementos que não são apenas parte da Agenda 2030, mas que são parte da realização do bem comum que é ter um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, sem deixar ninguém para trás.
PROFESSOR FELIPE CHIARELLO Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi Diretor da Faculdade de Direito e atualmente é Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Titular da Faculdade de Direito e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Político e Econômico, membro da Academia Mackenzista de Letras, Professor Colaborador do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF), Coordenador Adjunto de Programas Acadêmicos da Área de Direito da CAPES-MEC e Bolsista de Produtividade Nível 2 do CNPq.
XVIII
Introdução
O livro Cidades Inteligentes, Humanas e sustentáveis é o resultado bem-sucedido do evento Cidades Inteligentes, do Futuro e para Pessoas, que integrou o Circuito Urbano OnuHabitat 2019, e, também, da feliz e profícua união dos grupos de pesquisa “Direito Administrativo Contemporâneo”, “Poder Econômico e seus limites jurídicos”, “Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania”, juntamente com o Programa de Extensão “Mack cidade: núcleo de direito e espaço urbano”, todos desenvolvidos na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em São Paulo. De acordo com os dados na ONU, em 2050, 70% da população no mundo estará vivendo em cidades. Assim, é fato que o mundo está cada vez mais urbano e o desenvolvimento das cidades possui múltiplos desafios. O crescimento desordenado das cidades acentua gargalos de infraestrutura e acende a legítima preocupação acerca da mobilidade, saúde, ambiente construído, uso e ocupação do solo, os problemas na ausência de ação concatenada nas metrópoles, a manutenção da cultura e pertencimento, governança e eficiência na prestação de serviços públicos. No Brasil, historicamente, há o acesso precário a infraestruturas básicas nas cidades. Diante das inequidades do processo de urbanização, é necessário alinhar uma visão comum sobre o que entendemos e queremos com relação às cidades inteligentes. Para romper com os erros praticados no desenvolvimento urbano, é preciso articular políticas, programas, iniciativas e investimentos públicos que possibilitem as cidades transitarem neste mundo em transformação, protegendo parcelas mais vulneráveis da população. A tecnologia é um fato que faz parte da vida contemporânea. O acesso universal à cidade e a efetivação do desenvolvimento urbano se comunicam com a temática da inovação e uso de tecnologia.
2
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Nesse ambiente desafiador e novidadeiro, com o acentuado uso da terminologia “Cidades Inteligentes”1, o uso da inovação e tecnologia se apresenta como um instrumento útil para políticas públicas e estruturações de parcerias. Porém, se faz necessário conhecer a gama de possibilidades tecnológicas existentes, aquelas possíveis de serem aplicadas, compreender o significado do armazenamento de dados e o que pode pôr em risco a privacidade pessoal e de dados, a cidadania e a segurança da população. Aliado a isso, temos a Agenda 2030 e os 17 objetivos sustentáveis cuja finalidade é estabelecer um plano de ação, vencer o desafio de erradicar a pobreza extrema e alcançar o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, pensar na cidade (i) diversa (ii) para pessoas (iii) inclusiva, (iv) humana (v) resiliente (vi) que respeite o meio ambiente (vii) que seja econômica fértil, conectada e inovadora é entender que a Tecnologia da Informação – TIC e as soluções inovadoras integradas devem ser utilizadas para prover governo e serviços públicos eficientes, para respeitar costumes e tradições, preservando e valorizando seu patrimônio material e imaterial. Nesse contexto, o evento teve por objetivo fomentar a discussão a respeito da cidade e as inovações e tecnologias e sua capacidade de melhorar a vida dos cidadãos e otimizar os custos do planejamento e ordenamento territorial, bem como a necessidade de desenvolver marcos regulatórios capazes de conceder segurança jurídica para as relações jurídicas contratuais implementadoras dessas mudanças urbanas e todo esse ambiente em conexão com a proposta da Nova Agenda Urbana (ONU). Contudo, nesse espírito de discussão, troca, busca de solução e alertas que nasceu e se concretizou o evento e que contou com a presença de pesquisadores de diversas áreas do saber, integrantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e, ainda, unimos o outro lado do continente com visitantes da Universidade de Minho (Portugal), que puderam apresentar suas inquietações relativas ao tema e as dificuldades e desafios que a Europa se depara com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) (UE) 2016/679. 1
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) lidera a organização de processo colaborativo para a elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e conta com participação dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações (MCTIC) e do Meio Ambiente (MMA).O objetivo é consolidar uma visão nacional sobre o tema, por meio da Carta, numa perspectiva convergente de uso responsável e inovador da transformação digital para um desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. O documento também orientará políticas públicas, linhas de financiamento e ações estratégicas nas diferentes escalas de governo, oferecendo oportunidades para que os entes federados desenvolvam projetos alinhados às políticas setoriais e a essa visão comum. A carta oferecerá recomendações aos municípios sobre como usar a transformação digital para promover um desenvolvimento urbano mais sustentável. Disponível em: https://www.cidades.gov.br/acoes-e-programas/357-secretaria-nacional-de-programas-urbanos/projeto-andus/12237-carta-brasileira-paracidades-inteligentes.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
3
É certo que um evento importante como esse merece ser eternizado em anais. Ocorre que o grupo e os participantes, dada à qualidade das discussões, entendeu que a composição de um public papper seria útil para disseminar os pontos, preocupações e busca de soluções para auxílio na implementação de políticas públicas, e, assim, com muita felicidade apresento a presente obra. Agradecemos ao MackPesquisa, sem o qual o evento e esta publicação não seriam possíveis, à Faculdade de Direito, A ONUHabit. Agradecemos aos alunos e professores ligados ao grupo de pesquisa a disposição contínua em colaborar com as discussões e proposições que unam a administração pública, a academia e o mercado para parcerias virtuosas e desenhos de políticas públicas eficientes para alcançarmos cidades mais justas e igualitárias. LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES
Capítulo 1 Big Data, Internet das Coisas e as Cidades Inteligentes Juliana Abrusio
1. INTRODUÇÃO As assim chamadas “cidades inteligentes” (smart cities) consistem em comunidades que utilizam tecnologias conectadas entre si para coletar e analisar dados, com o objetivo de melhorar serviços para os cidadãos. Esse cenário implica, portanto, no uso generalizado de sensores acoplados aos diversos dispositivos conectados, como sustentáculo do fenômeno da internet das coisas (internet of things ou IoT), gerando uma infinidade de dados no paradigma da sociedade do big data. Dentre outras preocupações, será destacado no presente artigo a ameaça desses atuais fenômenos, inerentes à informação, frente aos cidadãos, inseridos nas cidades inteligentes, quanto ao direito fundamental de proteção de dados. Além disso, será analisado como as autoridades públicas estão (des)preparadas para atuar frente aos problemas decorrentes, por meio de políticas públicas capazes de gerar um desenvolvimento urbano eficaz e sustentável, sem que isso implique em desrespeitar as liberdades individuais. 2. FENÔMENOS DO BIG DATA E DA INTERNET DAS COISAS E A AMEAÇA À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS O deslocamento do sistema baseado na manufatura de bens materiais para sistemas de produção centralizados na informação trouxe diversos desdobramentos. A informação passa a ocupar um importante papel na vida social e econômica das cidades. Diante do advento da internet, e da maior conectividade entre diversos aparelhos existentes na comunidade, a quantidade de informações geradas aumenta sobremaneira, e passam a ser processadas com inteligência para finalidades específicas, tal qual a coleta de dados biométricos referentes ao reconhecimento fácil, utilizados para fins de segurança pública.
6
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
As cidades inteligentes dispõem de uma quantidade massiva de dados estruturados, dos quais, por meio do processamento de algoritmos do tipo machine learning, são extraídas informações úteis visando conferir soluções para melhorias nas áreas social, econômica, ecológica e de infraestrutura das cidades. Para tanto, as cidades inteligentes se valem do big data, alavancado pela internet das coisas, para elevar o padrão dos cidadãos, trazendo maior eficiência nos serviços públicos. Segundo José Antonio Remedio e Marcelo Rodrigues Silva: 1
A cidade inteligente, gerida por dados, é caracterizada pela capacidade de os gestores utilizarem tecnologias próprias para a geração, captação, processamento e análise de dados, objetivando, entre outros fins,o desenvolvimento de áreas sociais, educacionais, econômicas e ecológicas em relação ao ambiente urbano2.
Em outras palavras, as cidades inteligentes podem ser consideradas como um poderoso meio para resolver os vários problemas enfrentados hoje pelas comunidades, incluindo crescimento da população urbana, envelhecimento da sociedade, congestionamento e acidentes de trânsito, uso eficiente de recursos públicos, distribuição de serviços essenciais, segurança contra crimes, entre outros3. Antes de avançarmos, é preciso, porém, fazer uma pausa para compreender no que consistem os dois fenômenos aqui mencionados, quais sejam, o big data e a internet das coisas. O termo “big data” descreve o grande volume de dados – estruturados e não estruturados – e está relacionado aos avanços na mineração de dados (data mining4), bem como ao surpreendente aumento do poder computacional e à 1
2
3
4
Estocolmo, na Suécia, é conhecida como uma das cidades mais conectadas do mundo, ao lado de Londres, Copenhague, Singapura, Paris, compondo a lista das cidades consideradas como inteligentes. REMEDIO, José Antonio; SILVA, Marcelo Rodrigues. O uso monopolista do Big Data por empresas de aplicativos: políticas públicas para um desenvolvimento sustentável em cidades inteligentes em um cenário de economia criativa e de livre concorrência. Revista Brasileira de políticas públicas. Direito e Mundo Digital. Uniceub, v. 7, n. 3, dez. 2017, p. 673. Vide TOKORO, Nobuyuki. The smart city na the co-creation of value: a source of new competitiveness in a Low-carbon society. Japan: Springer, 2016, p. 2. Data mining is the process of analysing data from different perspectives and summarising it into useful new information. […] Technically, data mining is the process of finding correlations or patterns among dozens of fields in large relational databases. It is commonly used in a wide range of profiling practices, such as marketing, surveillance, fraud detection and scientific discovery’ European Data Protection Supervisor. Vide Glossário da EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR. Disponível em: <https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en>. Acesso em: 18 nov. 2019. Tradução livre: A mineração de dados é o processo de analisar dados de diferentes perspectivas e resumi-los em novas informações úteis. [...] Tecnicamente, mineração de dados é o processo de encontrar correlações ou padrões entre dezenas de campos em grandes bancos de dados relacionais. É comumente usado em uma ampla gama de práticas de criação de perfis, como marketing, vigilância, detecção de fraudes e descobertas científicas do European Data Protection Supervisor.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
7
capacidade de armazenamento de dados, que possibilita análises e correlações mais sofisticadas, por meio da aplicação de algoritmos5. Conforme ponderação de Solon Barocas e Helen Nissenbaum, a expressão “big data” reflete mais um paradigma do que uma determinada tecnologia, método ou prática. Assim, big data, enquanto paradigma, é uma maneira de pensar sobre o conhecimento através de dados e um arcabouço para apoiar a tomada de decisões, racionalizando a ação e orientando a prática: Levando em consideração as amplas utilizações de ‘big data’, tanto em discussões públicas, como em aplicações especializadas, iniciativas governamentais, agendas de pesquisa, e em diversas publicações científicas, críticas e populares, entendemos que o termo reflete melhor um paradigma do que uma determinada tecnologia, método ou prática. Há, é claro, técnicas e ferramentas características associadas ao big data, porém, mais do que a soma dessas partes, big data, enquanto paradigma, é uma maneira de pensar sobre o conhecimento através de dados e um arcabouço para apoiar a tomada de decisões, racionalizando a ação, e orientando a prática6.
Conforme constou na opinião 03/2013 da Comissão Europeia, big data refere-se ao crescimento exponencial tanto na disponibilidade quanto no uso automatizado da informação: refere-se a gigantescos conjuntos de dados digitais mantidos por corporações, governos e outras grandes organizações, que são extensivamente analisados (daí o nome: analytics) usando algoritmos de computador. Big data pode ser usado para identificar tendências e correlações mais gerais, mas também pode ser processado para afetar diretamente7. 5
6
7
Os algoritmos de aprendizagem de máquina trabalham para descobrir padrões em dados, para construir e refinar modelos matemáticos de dados que podem ser usados para fazer previsões, e, ainda, descrever dados para ganhar conhecimento e insight. Implica padrões de aprendizagem e relacionamentos a partir dos dados para construir modelos generalizáveis que, quando exposto a dados novos ou não vistos, ajudam em uma série de tarefas gerais, incluindo categorização, perfil, priorização, filtragem e previsão. Estão associados a uma combinação de várias disciplinas, como a estatística, a teoria da informação, a teoria dos algoritmos e a probabilidade. Vide SINGH, Jatinder; WALDEN, Ian; CROWCROFT, Jon; BACON, Jean. Responsibility and machine learning: part of a process. Publicado emj: 27 out. 2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2860048. Acesso em: 18 nov. 2019, p. 3-4. Tradução livre. Original em inglês: Taking into consideration wide-ranging uses of ‘big data’ in public discussions, specialized applications, government initiatives,research agendas, and diverse scientific, critical, and popular publications, we find that the term better reflects a paradigm than a particular technology, method, or practice. There are, of course, characteristic techniques and tools associated with it, but, more than the sum of these parts, big data, the paradigm, is a way of thinking about knowledge through data and a framework for supporting decision making, rationalizing action, and guiding practice. BAROCAS, Solon; NISSENBAUM, Helen. Big data’s end run around anonymity and consent. In: (Coords.) LANE, Julia; STODDEN, Victoria; BENDER, Stefan; NISSENBAUM, Helen. Privacy, big data, and public good: frameworks for engagement. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p.3. Tradução livre. Trecho original: it refers to gigantic digital datasets held by corporation, governments and other large organisations, which are then extensively analysed (hence the name: analytics) using
8
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Por meio do big data podem ser extraídos novos insights antes não pensados, bem como novas formas de valor no relacionamento entre cidades e cidadãos. Nesse sentido, nas palavras dos autores Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier, in verbis: Big data refere-se a coisas que uma pessoa pode fazer em grande escala que não poderiam ser feitas em um nível mais baixo, para extrair novos insights ou criar novas formas de valor, de maneira que são capazes de provocar a modificação em mercados, organizações, relacionamento entre cidadãos e governos e muito mais.8
André Martins Brandão, por sua vez, chama a atenção para a ameaça de modulações de controle que a tecnologia do big data pode acarretar, ao ponderar que é desenvolvida “com a ambição de possibilitar uma navegação mais rápida e eficiente no oceano de dados produzidos diariamente (e que só tende a crescer) – possibilitando ainda novas modulações de controle”9. Segundo K. Krasnow Waterman e Paula Bruening, as análises realizadas em big data vasculham montanhas de dados para identificar ou prever fatos sobre determinados indivíduos e usá-los em decisões relacionadas a diversos aspectos, que variam desde publicidade direcionada até indicação de tratamento médico10. De fato, as hipóteses são infinitas. Há cidades que já trabalham com a predição de crimes, com a aplicação de inteligência artificial11.
8
9
10
11
computer algorithms. Big data can be used to identify more general trends and correlations but it can also be processed in order to directly affect individual. Cf. EUROPEAN COMMISSION. Opinion 03/2013 on purpose limitation. Disponível em: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm. Acesso em: 30 nov. 2019. Tradução livre. Texto original: Big data refers to things one can do at a large scale that cannot be done at a samaller one, to extract new insights or create new forms of value, in ways that change markets, organizations, the relationship between citzens and governments, and more. Cf. MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. CUKIER, Kenneth. Big data: a revolution that will transform how we live, work and think. New York: Houghton Mifflin Publishing, 2013, p. 6. BRANDÃO, André Martins. Sujeito e decisão na sociedade de dados. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 208. WATERMAN, K. Krasnow; BRUENING Paula J. Big Data analytics: risks and responsabilities. International Data Privacy Law, v. 4, 2. ed. maio 2014, p.89-95. Disponível em: https://doi.org/10.1093/idpl/ ipu002. Acesso em: 22 out. 2019, p. 91. Na Itália, foi criado o algoritmo X-Law. Segundo matéria, um homem foi preso graças ao novo sistema empregado pela polícia italiana. O programa informou que havia grandes chances de um crime ser cometido na região de Camorra entre 3h e 4h da madrugada do dia 16 de nov. “Na delegacia, foi verificado que o homem tinha vários antecedentes por roubos e outros crimes cometidos no passado. “Os criminosos costumam atuar sempre na mesma zona, com o mesmo modus operandi e os mesmos procedimentos. Conhecem o comportamento das pessoas, os horários em que as empresas fecham e quando os idosos vão ao banco retirar sua aposentadoria”, disse o inspetor Elia Lombardo, criador da tecnologia. O inspetor informou que trabalhou na elaboração do sistema por 20 anos. As informações sobre crimes são introduzidas no sistema, que, a cada meia hora, envia um alerta sobre onde é mais provável que ocorra um
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
9
É comum encontrar a expressão big data associada aos “3 Vs”: volume, velocidade e variedade. Kirk Borne12, porém, propõe um salto para “10 Vs”13. Há quem opine, de outro lado, que o termo “big data” consiste em expressão ampla, vaga e imprecisa14. De qualquer forma, não há dúvidas de que esse conjunto de dados, designado por big data, é capaz de trazer vários benefícios à sociedade. Porém, simultaneamente, emerge um risco de uso indevido das informações pessoais. Por isso, o big data pode implicar em ameaça à privacidade. É nesse sentido que opina André Martins Brandão: Parte-se da hipótese de que na atual sociedade de dados o uso das tecnologias de inteligência artificial e big data gera impactos sobre os mais diversos campos que são tocados pelo fenômeno jurídico, como privacidade, discriminação, direito público à informação, democracia e até automação da tomada de decisão (jurídica), dentre muitos outros15.
12
13
14
15
delito nas duas horas seguintes. Esses cálculos matemáticos permitem que a polícia preveja a ocorrência de crimes com mais precisão e atue de forma mais eficaz. O X-law já havia sido testado em Nápoles e nas províncias de Prato e de Veneza. Se continuar a ter sucesso, será usado em toda a Itália para prevenir roubos. Além da Italia, em Chicago, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos (e uma das mais violentas), a polícia usa desde 2017 um algoritmo que cria um sistema de pontuação, com base nos registros policiais de prisões, disparos e outras variáveis, para prever quem tem uma maior probabilidade de disparar uma arma contra outra pessoa ou de ser baleado. O sistema cria uma lista de suspeitos, e os agentes vigiam aqueles com as pontuações mais elevadas. A China também está desenvolvendo um software para obter informações sobre possíveis criminosos e evitar incidentes violentos com base em dados que indicam comportamentos ‘incomuns’ de cidadãos para estabelecer padrões de criminalidade”. BBC. Polícia usa algoritmo que prevê crimes para prender ladrão na Itália. Veiculado em 19 nov. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/. Acesso em: 20 nov. 2019. BORNE, Kirk. Knowledge is power. Publicado em: 11 dez. 2019. Disponível em: https://mapr.com/ blog/top-10-big-data-challenges-serious-look-10-big-data-vs/. Acesso em: 12 dez. 2019. Volume: = lots of data. Variety: = complexity, thousands or more features per data item, the curse of dimensionality, combinatorial explosion, many data types, and many data formats. Velocity: = high rate of data and information flowing into and out of our systems, real-time, incoming. Veracity: = necessary and sufficient data to test many different hypotheses, vast training samples for rich micro-scale modelbuilding and model validation, micro-grained “truth” about every object in your data collection, thereby empowering “whole-population analytics”. Validity: = data quality, governance, master data management (MDM) on massive, diverse, distributed, heterogeneous, “unclean” data collections. Value: = the all-important V, characterizing the business value, ROI, and potential of big data to transform your organization from top to bottom (including the bottom line). Variability: = dynamic, evolving, spatiotemporal data, time series, seasonal, and any other type of non-static behavior in your data sources, customers, objects of study, etc. Venue: = distributed, heterogeneous data from multiple platforms, from different owners’ systems, with different access and formatting requirements, private vs. public cloud. Vocabulary: = schema, data models, semantics, ontologies, taxonomies, and other content- and context-based metadata that describe the data’s structure, syntax, content, and provenance. Vagueness: = confusion over the meaning of big data. CRAWFORD, Kate; SCHULTZ, Jason. Big data and due process: toward a framework to redress predictive privacy harms. Boston College Law, v. 55, n. 1, 2014. BRANDÃO, André Martins. Sujeito e decisão na sociedade de dados. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 208.
10
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Segundo Policy Paper, do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito São Paulo, intitulado “Um novo mundo de dados”, publicado em 29 de agosto de 2017, é preciso equilibrar os componentes do sistema, in verbis: Em um contexto de massificação das atividades de coleta e tratamento de dados nos meios digitais, o debate sobre privacidade e proteção de dados pessoais é imprescindível em ao menos dois níveis: a garantia de direitos fundamentais, como privacidade e intimidade, e a necessidade de assegurar segurança jurídica para viabilizar novos modelos de negócios e políticas públicas, dependentes, cada vez mais, do uso de dados16.
A análise do big data sob a perspectiva da dinâmica das cidades inteligentes está diretamente ligada às políticas públicas praticadas, tais quais WiFi público e estacionamento rotativo digital. Em 21 de dezembro de 2016, a Corte de Justiça da União Europeia decidiu dois importantes e polêmicos casos (C-203/15 e C-698/15), os quais discutiram sobre regras que impunham o armazenamento indiscriminado de dados relativos à localização de tráfego de dados em comunicações eletrônicas, envolvendo cidadãos da Irlanda, da Noruega e do Reino Unido, e se isso consistiria em risco de vigilância excessiva, em especial por parte das empresas que guardam os dados e dos Estados que podem acessá-los. A decisão da Corte de Justiça da União Europeia foi no sentido de que não se pode impor obrigação geral de conservar dados das comunicações eletrônicas, pois essa medida implicaria em ato de vigilância indiscriminada, incompatível com os direitos fundamentais, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os valores inscritos em uma sociedade democrática. Realmente, a questão do longo prazo de armazenamento de dados, abrangendo períodos de tempo cada vez mais longos, com detalhes e informações sobre o indivíduo, coletados em intervalos cada vez mais frequentes, constitui a pedra de toque desse fenômeno, visto que possibilita insights que só podem ser obtidos de uma massa de dados detalhada e vinculada a um longo prazo. Sobre a exploração de longo prazo do big data, Micah Altman, Alexandra Wood e David O´Brien e Urs Gasser destacam que não apenas os agentes privados estão nessa toada, mas também os agentes públicos, in verbis: Provedores de telecomunicações, sistemas operacionais móveis, plataformas de mídia social e varejistas geralmente coletam, armazenam e analisam grandes quantidades de dados sobre locais, transações, padrões de uso, interesses, 16
SILVA, Alexandre Pacheco da (Coord.). Um novo mundo de dados. Policy Paper do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP. Publicado em 29 ago. 2017, p.7. Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/unmd_policy_paper_fgv.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2019.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
11
informações demográficas e muito mais. Informações pessoais altamente detalhadas são usadas para fornecer serviços direcionados, anúncios e ofertas para clientes atuais e futuros. Os governos também estão experimentando coletar informações cada vez mais detalhadas a fim de monitorar as necessidades de suas comunidades, desde reclamações de buracos e barulho até relatórios criminais e registros de inspeção de prédios, e para melhorar sua capacidade de resposta e prestação de serviços constituintes17.
Com efeito, os dados pessoais – comerciais e governamentais – que se acumulam ao longo do tempo permitem definir um retrato deveras detalhado da vida de um indivíduo, tornando esses dados altamente valiosos não apenas para as organizações que os coletam, mas também para os agentes de tratamento de dados secundários. O fenômeno big data será cada vez mais intensificado, conforme já mencionado, pelo crescente número de dispositivos e de sensores que agora estão conectados por redes digitais, gerando uma imensidão de dados, no contexto do que é conhecido por internet das coisas. O fenômeno Internet das Coisas (IoT – Internet of Things)18 consiste na conectividade entre vários tipos de dispositivos utilizados no cotidiano pelo homem (geladeira, relógio, óculos, metrô, trator19, toalhas20, etc.) e que podem 17
18
19
20
Tradução livre. Texto original: Telecommunications providers, mobile operating systems, social media platforms, and retailers often collect, store, and analyse large quantities of data about customers’ locations, transactions, usage patterns, interests, demographics, and more. Highly detailed personal information is used to provide targeted services, advertisements, and offers to existing and prospective customers. Governments are also experimenting with collecting increasingly detailed information in order to monitor the needs of their communities, from pothole and noise complaints to crime reports and building inspection records, and to improve their responsiveness and delivery of constituent services. Cf. ALTMAN, Micah; WOOD, Alexandra Wood; O’BRIEN David R; GASSER, Urs. Practical approaches to big data privacy over time. International Data Privacy Law, v. 8, 1. ed. fev. 2018, p. 29-51. Disponível em: https://doi.org/10.1093/idpl/ipx027. Acesso em: 22 nov. 2020, p. 35. A criação do termo é atribuída a Kevin Ashton, fundador do Auto-ID Center no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Trator conectado à internet: em parceria com a Usina São Martinho, de Pradópolis (SP), e com o apoio do BNDES, o CPqD instalou sensores em máquinas agrícolas, que enviam dados sobre posição e desempenho dos equipamentos via rádio em frequência de 250 MHz para as estações instaladas nas torres da fábrica. Todos os dados sobre equipamentos como tratores e caminhões são enviados para uma plataforma que pode ser acessada por meio de dispositivos móveis. “O projeto atual começou em 2016. No primeiro ano, desenvolvemos os equipamentos e, agora, no segundo, estamos corrigindo e melhorando os produtos”, disse Rafael Moreno, diretor de sistemas sem fio do CPqD. Por enquanto, 20 terminais foram instalados na usina. Até o fim do ano, o total de unidades deve chegar a 108. (INGIZZA, Carolina. O Estado de S. Paulo. Três exemplos de como a internet das coisas já é usada no Brasil. Disponível em: https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,3-exemplos-de-como-a-internet-das-coisas-ja-e-usada-no -brasil,70002026748. Acesso em: 27 nov. 2019). Visando diminuir o número de subtrações de toalhas, três hotéis americanos, localizados em Nova Iorque, Miami e Honolulu, colocaram em funcionamento toalhas com etiquetas RFID, que se utiliza da tecnologia IOT. Por meio de um sistema computadorizado, é possível rastrear os tecidos e evitar que levem as toalhas.
12
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
ser acessíveis pela internet ou por outras tecnologias. Segundo a entidade europeia Article 29 Working Party21: O conceito de Internet das Coisas (IoT) refere-se a uma infraestrutura na qual bilhões de sensores embutidos em dispositivos comuns do cotidiano – “coisas” em si, ou coisas vinculadas a outros objetos ou indivíduos – são projetados para registrar, processar, armazenar e transferir dados e, como eles estão associados a terminais únicos e específicos, interaja com outros dispositivos ou sistemas usando recursos de rede. Como a IoT está fundamentado no princípio do processamento extensivo de dados por meio desses sensores, os quais são projetados para se comunicar de maneira discreta e trocar dados de maneira uniforme, ela está intimamente ligada às noções de computação “difundida” e “ubiquitous” computing22.
Atualmente, analisa-se o fenômeno da internet das coisas sob diversos ângulos. Um dos mais importantes é entender como essa tecnologia está gerando uma infinidade de dados (big data) e trazendo ainda mais desafios à proteção da privacidade e dos dados pessoais, além disso como a vida hiperconectada tem influenciado o dia a dia dos cidadãos. Sobre esse assunto, consta do Relatório do plano de ação do estudo em Internet das Coisas, elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC): A disseminação e o uso massivo de Internet das Coisas (ou Internet of Things – IoT, em inglês) irá transformar a economia e o dia a dia da população de maneira tão ou mais impactante do que a robótica avançada,
21
22
Um dos hotéis que adotou a solução conseguiu economizar US$ 15 mil dólares, diminuindo a quantidade de desvio de toalhas de 4 mil para 750 toalhas por mês. (WILSON, Jenny. Revista Time. Want to steal a hotel towel? Checking for a new tracking chip first. Disponível em: <http://newsfeed.time.com/2011/04/18/ want-to-steal-a-hotel-towel-check-for-a-new-tracking-chip-first/>. Acesso em: 25 nov. 2019). O “grupo de trabalho do artigo 29” era a designação abreviada do Grupo de Trabalho para a Proteção de Dados estabelecido pelo artigo 29 da Diretiva 95/46/CE. Fornece à Comissão Europeia aconselhamento independente sobre questões de proteção de dados e ajuda no desenvolvimento de políticas harmonizadas para a proteção de dados nos Estados-Membros da UE. Desde o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais (Regulamento (UE) 2016/679), passou a se chamar “European Data Protection Board” (EDPB). Tradução livre. Texto original: The concept of the Internet of Things (IoT) refers to an infrastructure in which billions of sensors embedded in common, everyday devices – “things” as such, or things linked to other objects or individuals – are designed to record, process, store and transfer data and, as they are associated with unique identifiers, interact with other devices or systems using networking capabilities. As the IoT relies on the principle of the extensive processing of data through these sensors that are designed to communicate unobtrusively and exchange data in a seamless way, it is closely linked to the notions of “pervasive” and “ubiquitous” computing. Cf. ARTICLE 29 Data protection working party, Opinion 8/2014 on the Recent developments on the internet of things, tech. report, 16 de Setembro 2014. Disponível em: https://www.pdpjournals.com/docs/88440.pdf. Acesso em: 7 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
13
tecnologias Cloud, e até mesmo do que a internet móvel. [...] Tanto gigantes multinacionais como startups já estão aproveitando essa tendência emergente de soluções tecnológicas que envolvem conexão máquina a máquina para criar novos modelos de negócios e otimizar os que já existem. Está em curso um processo irreversível de destruição criativa, termo usado pelo economista Joseph Schumpeter (1883-1950) para descrever a transformação industrial que destrói estruturas econômicas para criar outras.23
Em 2013, a Comissão Europeia emitiu relatórios fruto de consultas públicas na área da IoT e das pesquisas e contribuições de especialistas no assunto. Entre os diversos temas cobertos pelos relatórios estão segurança e privacidade: É fato que se a IoT se tornar onipresente – todos (indivíduos e empresas) estarão preocupados. Ainda, a conexão de objetos oferece novas possibilidades de influenciar e gerar mudanças. Isso leva a vários novos riscos potenciais (e já conhecidos) que devem ser considerados, relacionados à segurança da informação e à privacidade e proteção de dados. A gravidade e a probabilidade de cada risco dependerão das circunstâncias nas quais cada aplicativo / sistema de IoT é implantado24.
O relatório dos Estados Unidos, elaborado pelo US Government Accountability Office, de maio de 2017, observa que os dados pessoais coletados por meio da Internet das Coisas, provavelmente, exibirão “um grau sem precedentes de intimacy”25. Em vista de uma ordem de grandeza sobre a quantidade de dados capazes de serem capturados pela onda da Internet das Coisas, há a estimativa indicada pela Federal Trade Commission dos Estados Unidos: cerca de 10 mil habitantes podem gerar 150 milhões de dados informativos diariamente26. A pseudossolução 23
24
25
26
BNDES. Banco Nacional do Desenvolvimento. Relatório do Plano de Ação. Internet das Coisas. Nov. 2017. Disponível em: https://www.bndes.gov.br. Acesso em: 25 jul. 2018. Um estudo do McKinsey Global Institute estima que o impacto de IoT na economia global será de 4% a 11% do produto interno bruto do planeta em 2025 (portanto, entre 3,9 e 11,1 trilhões de dólares). Até 40% desse potencial deve ser capturado por economias emergentes. No caso específico do Brasil, a estimativa é de 50 a 200 bilhões de dólares de impacto econômico anual em 2025. Tradução livre. Trecho original: It’s a matter of fact that if IoT become omnipresent – everyone (individuals and enterprises) will be concerned. Also crosslinking of objects offers new possibilities to influence and to exchange. This leads to a variety of new (as well as already known) potential risks concerning information security and both privacy and data protection, which must be considered. The severity and likeliness of each risk will depend on the circumstances in which each IoT application/system is deployed. Cf. EUROPEAN Commission. Report on the consultation on IoT governance, tech. report, 16 jan. 2013. Disponível em: https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/conclusions-internetthings-public-consultation. Acesso em: 27 nov. 2019. UNITED STATES Government Accountability Office (GAO). Internet of things, maio 2017. Disponível em: http://www.gao.gov/assets/690/684590.pdf. Acesso em: 22 nov. 2019, p. 35. FEDERAL TRADE COMMISION. FTC staff report. Internet of things. Privacy & Security in a connected world. Jan. 2015. Disponível em: https://www.ftc.gov/. Acesso em: 27 nov. 2020, p. 14.
14
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
para tamanha coleta e processamento de dados seria o caminho da anonimização dos dados, a fim de preservar a identidade dos indivíduos, garantindo-lhes proteção à privacidade e dados pessoais. Porém, algumas pesquisas já demonstraram exaustivamente a facilidade de reidentificar dados anonimizados27. Os riscos implicados podem ser agravados porque os dados capturados dos sensores dos dispositivos podem ser utilizados conjuntamente aos dados pessoais já disponíveis, de forma a incrementar correlações e cruzamento de dados que podem ser feitos sem nenhum controle28. A disseminação de sensores, portanto, deve ser um ponto de atenção. Conforme já mencionado, por meio desses sensores a quantidade e a precisão dos dados coletados serão elevados dentro das cidades inteligentes. Sob outra perspectiva de análise, vale trazer à tona o alerta de Lucia Santaella: “não há cidades sem que sejam vivificadas pela dinâmica dos cidadãos que nelas habitam, trabalham, movimentam-se, divertem-se, angustiam-se e continuamente a transformam”29. Portanto, mais importante e determinante do que a tecnologia que serve ao indivíduo é como o indivíduo servido pela tecnologia estabelece sua dinâmica em sociedade. Nas palavras da autora citada, in verbis: As cidades e os corpos tornaram-se ubíquos pelo simples fato de que também se tornaram líquidos. À fisicalidade sólida das cidades e dos corpos vivos e dinâmicos aderiu-se a invisibilidade ubíqua dos “espaços informacionais” líquidos. Esses dados informacionais invisíveis, líquidos, ubíquos tomaram conta da superfície do planeta e nos rodeiam, onde quer que estejamos. É comum pensar que os dados estão na nuvem, mas eles baixam para nossas mãos e se dispõem ao nosso olhar ao toque de dedos. Isso está levando ao crepúsculo as tradicionais noções de espaço e tempo cuja crise os debates da pós-modernidade já haviam, até certo ponto, antecipado. Hoje os fluxos hipercomplexos da hipermobilidade urbana e social têm sido designados como cidades híbridas, cidades líquidas, cidade-ciborgue, cibercidade, cidade virtual, cidade como interface [...]30
Posto isso, torna-se de fácil compreensão que da realidade da Internet das Coisas deriva o que se optou chamar por “datificação” da vida, isto é, os atos da vida são colocados em dados. O que antes pertencia ao mundo analógico passa a estar integrado no mundo on-line, gerando volumosos conjuntos de dados (big 27
28
29
30
Sobre pseudoanonimização de dados, ver: MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV, 2018, p. 97-98. DONEDA, Danilo; ALMEIDA, Virgílio; MONTEIRO, Marília. Governance challenges for the internet of things. IEE Computer Society, v. 19, n. 4, p. 56-59, 2015, p. 3. SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013, p. 62. SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013, p. 70.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
15
data). A datificação proporcionada pela Internet das Coisas, portanto, aumentará exponencialmente a captura e o tratamento de dados pessoais, de diversas naturezas, com o perfilamento dos indivíduos. Por meio de aparelhos conectados em todo lugar e a todo instante, e por meio de algoritmos, é possível identificar e registrar rotinas dos indivíduos dentro das cidades. 3. DELINEAMENTO DE CAMINHOS PARA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS CIDADÃOS Como visto, se por um lado a promessa da concretização das cidades inteligentes é trazer maior segurança, maior eficiência, bem como maior participação e transparência aos cidadãos, por outro lado os fenômenos tecnológicos que a sustentam acarretam um desiquilíbrio de poderes (assimetria) entre o cidadão e os entes que processam os dados pessoais, podendo comprometer as liberdades individuais. Isso não significa que a privacidade seja uma barreira para a formação e manutenção das cidades inteligentes, porém tais constatações demonstram que elas requerem mais cautela e aplicação de medidas protetivas. Para tanto, é essencial discutir políticas para defesa dos interesses individuais e coletivos. O desenvolvimento de cidades inteligentes não pode ser caracterizado apenas por uma mera abordagem baseada em dados e eficiência, mas devem ser considerados os potenciais efeitos sociais de ambientes interconectados e riscos relacionados. Nesse sentido, já existem várias contribuições que desenharam a importância de construir um enquadramento legal e ético do uso de dados pessoais na era do big data, da internet das coisas e das cidades inteligentes. Entretanto, muitas dessas contribuições adotam uma perspectiva teórica. É preciso, contudo, colocar em prática uma postura pró-ativa, com o aumento da transparência e engajamento de todos, criando e mantendo uma governança de proteção de dados, baseada no valor confiança do cidadão. 4. PALAVRAS DE CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES Diante da problemática exposta no presente artigo quanto à ameaça aos dados pessoais dos cidadãos, conclui-se pela recomendação de que qualquer tecnologia a ser empregada nas cidades inteligentes deve, previamente à sua aplicação, ter um assessment visando identificar quais os impactos envolvidos. O instrumento apto para tanto é o relatório de impacto em proteção de dados (data protection impact assessment – DPIA), por meio do qual será detalhado como os dados serão coletados, armazenados e usados pela tecnologia em análise, bem como será apontado o volume, a variedade e a natureza dos dados de entrada, ou seja, se os dados pessoais são ou não sensíveis.
16
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A definição do relatório de impacto à proteção de dados pessoais pode ser encontrado no inciso XVII do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), in litteris: “documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.” Ademais, a autoridade nacional31, por força do artigo 38 da Lei Geral de Proteção de Dados, “poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial”, no que inclui a atuação do ente público nas cidades inteligentes. Ressalte-se que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais servirá melhor a seu objetivo se realizado, pela primeira vez, nos estágios iniciais do desenvolvimento do projeto que a cidade inteligente pretende implementar. A identificação dos riscos aos direitos e liberdades visa impedir, com efeito, que sistemas tecnológicos, incluindo os de inteligência artificial, afetem os direitos de privacidade e proteção de dados dos indivíduos, eliminando, inclusive, formas de discriminação. Não à toa, Margot E. Kaminski e Gianclaudio Malgieri registraram sobre o relatório de impacto nesse campo que este “can serve as a connection between collaborative governance and individual rights”32. Importante lembrar, por derradeiro, que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) traz como boas práticas de governança em privacidade o estabelecimento de políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade (art. 50, § 2º, I, d). REFERÊNCIAS ALTMAN, Micah; WOOD, Alexandra Wood; O´BRIEN David R; GASSER, Urs. Practical approaches to big data privacy over time. International Data Privacy Law, v.8, 1.ed. fev.2018, p.29-51. Disponível em: https://doi. org/10.1093/idpl/ipx027. Acesso em: 22 nov. 2019. ARTICLE 29 Data protection working party, Opinion 8/2014 on the Recent developments on the internet of things, tech. report, 16 de Setembro 2014. Disponível em: https://www.pdpjournals.com/docs/88440.pdf. Acesso em: 7 jan. 2020. 31
32
Dentre as competências da ANPD, segundo artigo 55-J, inciso XIII, da LGPD, consta: “editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei.” KAMINSKI, Margot E.; MALGIERI, Gianclaudio. Algorithmic Impact Assessments under the GDPR: Producing Multi-layered Explanations. University of Colorado Law Legal Studies Research Paper nº 19-28, 18 set. 2019. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456224. Acesso em: 19 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
17
BAROCAS, Solon; NISSENBAUM, Helen. Big data’s end run around anonymity and consent. In: (Coords.) LANE, Julia; STODDEN, Victoria; BENDER, Stefan; NISSENBAUM, Helen. Privacy, big data, and public good: frameworks for engagement. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. BBC. Polícia usa algoritmo que prevê crimes para prender ladrão na Itália. Veiculado em 19 nov. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/. Acesso em: 20 nov. 2019. BORNE, Kirk. Knowledge is power. Publicado em: 11 dez. 2019. Disponível em: https://mapr.com/blog/top-10-big-data-challenges-serious-look-10-big-data-vs/. Acesso em: 12 dez. 2019. BRANDÃO, André Martins. Sujeito e decisão na sociedade de dados. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. CRAWFORD, Kate; SCHULTZ, Jason. Big data and due process: toward a framework to redress predictive privacy harms. Boston College Law, v. 55, n. 1, 2014. DONEDA, Danilo; ALMEIDA, Virgílio; MONTEIRO, Marília. Governance challenges for the internet of things. IEE Computer Society, v. 19, n. 4, p. 56-59, 2015. EUROPEAN Commission. Report on the consultation on IoT governance, tech. report, 16 jan. 2013. Disponível em: https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/conclusions-internetthings-public-consultation. Acesso em: 27 nov. 2019. EUROPEAN COMMISSION. Opinion 03/2013 on purpose limitation. Disponível em: http://ec.europa.eu/ newsroom/article29/news-overview.cfm. Acesso em: 30 nov. 2019. Glossário da EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR. Disponível em: https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en. Acesso em: 18 nov. 2019. INGIZZA, Carolina. O Estado de S. Paulo. Três exemplos de como a internet das coisas já é usada no Brasil. Disponível em: https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,3-exemplos-de-como-a-internet-das-coisas-ja-e-usada-no-brasil,70002026748. Acesso em: 27 nov. 2019 KAMINSKI, Margot E.; MALGIERI, Gianclaudio. Algorithmic Impact Assessments under the GDPR: Producing Multi-layered Explanations. University of Colorado Law Legal Studies Research Paper nº 19-28, 18 set.2019. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456224. Acesso em 19 jan. 2020. MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV, 2018. MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. CUKIER, Kenneth. Big data: a revolution that will transform how we live, work and think. New York: Houghton Mifflin Publishing, 2013. REMEDIO, José Antonio; SILVA, Marcelo Rodrigues. O uso monopolista do Big Data por empresas de aplicativos: políticas públicas para um desenvolvimento sustentável em cidades inteligentes em um cenário de economia criativa e de livre concorrência. Revista Brasileira de políticas públicas. Direito e Mundo Digital. Uniceub, v. 7, n. 3, dez. 2017. SILVA, Alexandre Pacheco da (Coord.). Um novo mundo de dados. Policy Paper do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP. Publicado em 29 ago. 2017, p. 7. Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/ sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/unmd_policy_paper_fgv.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019. SINGH, Jatinder; WALDEN, Ian; CROWCROFT, Jon; BACON, Jean. Responsibility and machine learning: part of a process. Publicado emj: 27 out. 2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2860048. Acesso em: 18 nov. 2019. UNITED STATES Government Accountability Office (GAO). Internet of things, maio 2017. Disponível em: http://www.gao.gov/assets/690/684590.pdf. Acesso em: 22 nov. 2019. TOKORO, Nobuyuki. The smart city na the co-creation of value: a source of new competitiveness in a Low-carbon society. Nova Iorque: Springer, 2016. WATERMAN, K. Krasnow; BRUENING Paula J. Big Data analytics: risks and responsabilities. International Data Privacy Law, v. 4, 2. ed. maio 2014, p. 89-95. Disponível em: https://doi.org/10.1093/idpl/ipu002. Acesso em: 22 out. 2019. WILSON, Jenny. Revista Time. Want to steal a hotel towel? Checking for a new tracking chip first. Disponível em: http://newsfeed.time.com/2011/04/18/want-to-steal-a-hotel-towel-check-for-a-new-tracking-chip-first/. Acesso em: 25 nov. 2019.
Capítulo 2 A Importância das Bases de Dados Abertas para a Construção de Cidades Inteligentes Marcelo Chiavassa de Mello Paula Lima Stella He Jin Kim
1. INTRODUÇÃO: DADOS ABERTOS A ideia de cidade inteligente1 envolve a utilização de diversos sensores eletrônicos para a coleta de dados de diferentes segmentos de uma cidade: trânsito, acidentes, aglomeração de pessoas, segurança pública, sanitário, lazer, turismo, transporte público, dentre outras inúmeras possibilidades2. Esses sensores eletrônicos estão conectados à Internet (“Internet of Things” ou IoT) e tem como função a coleta e transferência em tempo real desses dados para uma ou mais centrais de controle, que irão processar esses dados e tomar as medidas cabíveis em tempo real. Dessa forma, a cidade passa a encontrar soluções praticamente imediatas para o trânsito (altera o tempo de abertura/fechamento dos semáforos, por exemplo, ou então passa a sugerir desvio de rota às pessoas que estão no con1
2
“Não obstante o vasto universo de definições possíveis, o conceito de smart city está geralmente associado à utilização de novas tecnologias de informação e comunicação – e.g. computação ubíqua, “internet das coisas”, difusão generalizada de dispositivos móveis e sensores, plataformas de partilha de dados e redes sociais, entre outras – ao serviço de aumentos de eficiência na provisão de serviços urbanos e qualidade de vida (Institute for the future, 2012). Existem hoje incontáveis iniciativas denominadas de smart city em todo o mundo, nas quais municípios, empresas, centros de investigação, entre outros, têm vindo a desenvolver soluções tecnológicas para domínios urbanos tão diversos como a mobilidade, a energia, o ambiente, o acesso a serviços sociais, etc.” (CARVALHO, Luís; CATARINA, Maia. Empreendedores Cívicos e Smart Cities: práticas, motivações e geografias da inovação. GOT n. 10, Porto, dez. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.17127/got/2016.10.005. Acesso em: 29.04.2020). “A smart city goes beyond the use of information and communication technologies (ICT) for better resource use and less emissions. It means smarter urban transport networks, upgraded water supply and waste disposal facilities and more efficient ways to light and heat buildings. It also means a more interactive and responsive city administration, safer public spaces and meeting the needs of an ageing population.” (Disponível em: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities -and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en. Acesso em: 04.03.2020).
20
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
gestionamento), segurança pública (envia agentes públicos de segurança em caso de criminalidade), avisa sobre o atraso do transporte público (e, inclusive, aloca mais trens/ônibus em rotas mais problemáticas), etc.3. É a importância dos chamados “dados abertos”4. Como definido pela Comissão Europeia, as cidades inteligentes consistem em um local onde as relações e serviços se tornam mais eficientes com a utilização de tecnologias digitais e de telecomunicação, a fim de beneficiar os habitantes e os negócios5–6. Não basta, entretanto, a coleta em tempo real dos dados. É importante também a retenção desses dados em bases públicas, que estejam disponíveis para todos. O histórico de dados é importante para permitir que a cidade funcione de maneira adequada (não apenas respondendo a emergências, mas 3
4
5
6
“We are in times where it is not enough to reduce, recycle and reuse; resources must be implemented, protected and used. So, the economy will be boost by improving production practices, reducing wasting and having more enjoyable working environments. Investing “smart” will generate a chain of actions that involve more strategic and dynamic enhancements across all sectors: government, society, communications, transports, buildings, clean energy, quality of life and a more favorable environment.” (FUENTES-CERVANTES, L. The Future of Cities is Smart, Inclusive and Sustainable: Research and Proposal of Smart City Layer Implementation for Mexico. RIIIT. Rev. int. investig. innov. tecnol. vol. 6 n. 31 Saltillo mar./abr. 2018. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-97532018000100002&lang=pt. Acesso em: 30.04.2020). “O conceito de dados abertos é vastamente aplicado nos diversos setores para descrever todas as formas de dados disponíveis gratuitamente ao público, inclusive os dados de pesquisa. Uma das iniciativas que mede a performance da abertura de dados é a Open Government Partnership (OGP, Parceria para Governo Aberto), em que os Planos de Ação Nacionais são constituídos de compromissos de Estado alinhados aos princípios do Governo Aberto, quais sejam: Transparência, Accountability, Participação Cidadã e Tecnologia e Inovação, os quais condizem com os princípios da Ciência Aberta. A participação do Brasil na OGP – iniciativa internacional que tem como princípios a transparência, o acesso à informação pública e a participação social – tem fornecido ambiente oportuno para integração desses movimentos no Brasil.” (BERTIN, Patrícia Rocha Bello et al. A parceria para Governo Aberto como plataforma para o avanço da ciência aberta no Brasil. Transinformação vol. 31, Campinas 2019 Epub Sep 16, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190020. Acesso em: 20.04.2020). “A smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and telecommunication technologies for the benefit of its inhabitants and business.” (Disponívell em: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/ city-initiatives/smart-cities_en. Acesso em: 04.03.2020). “Desta forma, os dados abertos têm como intuito incentivar práticas de inovação aberta no setor público e nas cidades. A maneira de catalisar essa inovação é lançando informações em portais de dados abertos, baseados em plataformas Web, para facilitar o acesso de todos a dados públicos, para que possam usá-los para melhorar os serviços existentes ou desenvolver novos aplicativos para a administração pública. Uma característica social importante dos dados abertos, é a criação de serviços que podem ser compartilhados entre cidades e regiões, aumentando assim o uso e o valor de oferecer dados de maneira aberta.” (BAUER, Izabella; BARACHO, Renata. Dados Abertos e suas aplicações em Cidades Inteligentes. Liinc em Revista Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4767/4311. Acesso em: 05.03.2020).
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
21
também as antevendo). Ademais, as bases de dados públicas também são importantes para fins de transparência e controle por parte da sociedade7. 2. REGULAÇÃO DE DADOS ABERTOS NO BRASIL A política de dados abertos no Brasil foi consagrada pela Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 5º, inciso XXXIII8, 37, § 3º, inciso II9, e 216, § 2º10. A Magna Carta brasileira prescreve, em três passagens, a importância da transparência e do controle das atividades do Estado por parte da população. Infelizmente, a Lei que viria a regular esses artigos da Constituição demorou mais de 20 (vinte) anos para ser sancionada, o que veio a ocorrer apenas em 2011 (Lei nº 12.527/2011), conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). A LAI surgiu para permitir o acesso à informação à população em geral, principalmente para “assegurar o direito fundamental de acesso à informação” (art. 3º, caput). É um inegável marco no avanço da política de dados abertos e da transparência dos entes federativos e órgãos da administração pública direta e indireta. A Lei não apenas regulamenta o dever de informação passivo (quando o 7
“Os dados abertos constituem um domínio da ciência aberta ainda recente, principalmente para os países da América Latina. As políticas instituídas nesses países são novas e estão em construção. Os Dados Governamentais Abertos (DGA) são um subdomínio dos dados abertos e referem-se aos dados do setor público, tornando a informação livremente disponível em formatos abertos e permitindo vias de acesso públicas que facilitem a sua exploração.” (SILVA, Patrícia Nascimento; KERR-PINHEIRO, Marta Macedo. Métrica alternativa para dados governamentais abertos na América Latina. Transinformação vol. 31 Campinas 2019 Epub Sep 23, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/ 2318-0889201931e190009. Acesso em: 28.04.2020). 8 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIII. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” 9 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII” 10 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”
22
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
cidadão solicita formalmente a informação), mas também o dever de informação ativo, pontuando que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas” (art. 8º, caput, LAI). Vale ressaltar que antes mesmo da LAI surgiram (2004) os chamados “portais da transparência” federal, estadual e municipal, a fim de prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos. Era a consagração desse dever de informação ativo por parte dos órgãos da administração pública direta e indireta. A criação desses “portais da transparência” teve como causa a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e a criação da Controladoria Geral da União em 2003, a quem compete gerir – e exigir – transparência das gestões públicas. No mesmo ano da LAI (2011), foi sancionado o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto, atualmente revogado, como detalhado na sequência. Pouco tempo após a LAI, veio a ser criada a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, cujo principal marco regulatório é o Decreto nº 8.777/2016. A Política de Dados Abertos tem como objetivos (art. 1º) promover a publicação da base de dados dos órgãos da administração pública direta e indireta em formato aberto, de forma a aprimorar a cultura da transparência no setor público e, principalmente, com a abertura das bases de dados, permitir o desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação nos setores público e privado, fomentando, dessa forma, novos modelos de negócio que auxiliem no desenvolvimento social e econômico do país. A publicização da base de dados públicos de forma aberta e transparente permite que qualquer cidadão possa utilizar esses dados, o que vem a ser extremamente importante para o surgimento de tecnologias ligadas às chamadas “cidades inteligentes”, como será desenvolvido em capítulo próprio. Ainda em termos de regulação, vale citar que compete à Controladoria-Geral da União (CGU) coordenar toda a política de dados abertos do país, o que será feito por intermédio da INDA (Infraestrutura Nacional de Dados Abertos), ex vi art. 5º. Em decorrência da Política de Dados Abertos do Poder Executivo, foi criado o Portal Brasileiro de Dados Abertos (www.dados.gov.br), gerido pela INDA, que serve como ponto centralizador das diferentes bases de dados dos órgãos da administração pública direta e indireta. O Sistema Nacional para a Transformação Digital (Decreto nº 9.319/2018) desenvolvido e sancionado em 2018 consolidou a tentativa de inserção do Governo no mundo digital, inclusive pela concessão de amplo acesso à informação e aos dados abertos governamentais, a fim de permitir o exercício da cidadania e a inovação em tecnologias digitais.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
23
O ano de 2019 marcou, com algum atraso, a criação da Política Nacional de Governo Aberto, com a criação do Comitê Interministerial de Governo Aberto, por meio do Decreto nº 10.160/2019. Por fim, foi instituída a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, por meio do Decreto nº 10.332/2020. Com a Estratégia de Governo Digital, o Governo objetiva, entre tantos pontos, centralizar em um único portal os quase 1.500 (um mil e quinhentos) domínios titularizados pelo Governo Federal, implantar mecanismo de personalização da oferta de serviços públicos digitais, baseados no perfil do usuário, até 2022, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Governo Federal, a criação da identidade digital ao cidadão e, no ponto que mais interessa ao presente estudo, a reformulação dos canais de transparência e dados abertos (Objetivo 13) e a participação do cidadão na elaboração de políticas públicas (Objetivo 14). Sobre a reformulação dos diferentes canais de transparência e dados abertos, o Governo pretende integrá-los ao portal único “gov.br” ainda em 2020, além de ampliar a quantidade de bases de dados abertos até o patamar mínimo de 0,68 no critério de disponibilidade e 0,69 no critério de acessibilidade de dados do índice organizado pela OCDE até 2022. Esse é, atualmente, o cenário jurídico-regulatório dos Dados Abertos no país. Para iniciativas estaduais ou municipais, vale a consulta ao “Wiki” da INDA, acessível por meio do sítio eletrônico http://www.dados.gov.br/pagina/outras-iniciativas. 3. A AGENDA EUROPEIA SOBRE AS CIDADES INTELIGENTES A Comissão Europeia tem trabalhado em 3 (três) frentes no financiamento de pesquisas relacionadas às cidades inteligentes: mercado digital e cidades inteligentes; energia e cidades inteligentes; e, por fim, transporte sustentável para cidades inteligentes. Sobre mercados digitais, vale pontuar o estudo que prevê que as cidades deverão hospedar até dois terços da população mundial no ano de 2050, consumindo mais de 70% (setenta por cento) da energia e emitindo quantidades extremamente elevadas de gases tóxicos na atmosfera. Por essa razão, é mais do que crucial o desenvolvimento de soluções inteligentes e sustentáveis que permitam o desenvolvimento das cidades e da sociedade11. Para tanto, a Comissão Europeia demonstra enorme preocupação com soluções que permitam encontrar soluções satisfatórias para esse problema, 11
EUROPEAN COMISSION – Smart Cities. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urbandevelopment/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en. Acesso em: 04.03.2020.
24
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
por acreditar que uma cidade inteligente vai além de somente o uso de dados para um melhor aproveitamento dos recursos e menos emissões, mas também para a busca por sustentabilidade, interatividade e responsividade da administração da cidade. Seguindo tal preocupação em relação à energia, a Comissão Europeia possui diversas iniciativas, sendo elas: (i) a estratégia da união energética, que define as metas e ações para transformar o sistema energético europeu no mais sustentável do mundo; (ii) a Agenda Urbana para a União Europeia, que promove leis melhores, um acesso mais facilitado ao financiamento e maior compartilhamento de conhecimento sobre questões relevantes para as cidades; (iii) a diretiva de desempenho energético dos edifícios, que promove tecnologias inteligentes para o aumento da eficiência energética dos edifícios; (iv) Pacto de prefeitos da União Europeia para clima e energia, que reúne governos locais, comprometidos voluntariamente na implementação dos objetivos de clima e energia nas cidades da União Europeia; (v) o plano estratégico de tecnologia energética, que promove esforços de pesquisa e inovação em toda a Europa, apoiando as tecnologias mais impactantes na transformação da União Europeia em um sistema energético de baixo carbono; e (vi) o sistema de informações de cidades inteligentes (SCIS), que fornece um repositório de informações sobre projetos de cidades inteligentes e serve como uma plataforma de conhecimento para troca de dados, experiência e know-how.12 Por fim, em relação ao transporte sustentável, a Comissão Europeia tem buscado melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e fortalecer a economia através da promoção de mobilidade urbana sustentável e o aumento do uso de veículos limpos e energicamente eficientes. Dentre suas iniciativas se destacam as diretrizes para planejamento sustentável da mobilidade urbana, que com a reunião da experiência prática das cidades de toda a Europa desenvolveu diretrizes que refletem as principais tendências da mobilidade urbana, para referência dos profissionais de transporte e mobilidade urbana envolvidos no desenvolvimento e implementação de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável.13 4. Dados Abertos e Cidades Inteligentes A “Open Knowledge Foundation”14 é uma organização global que vem propondo e monitorando a adoção de plataformas de dados abertos em boa 12
13
14
EUROPEAN COMISSION – Energy. Disponível em: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union_en?redir=1. Acesso em: 29.04.2020. EUROPEAN COMISSION – Transport. Disponível em: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ news/2019-10-02-new-guidelines-sump_en. Acesso em: 29.04.2020. Disponível em: https://okfn.org/about/. Acesso em: 05.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
25
parte do mundo. O mais utilizado conceito de dados abertos foi por eles definido como sendo “qualquer conteúdo, informação ou dado que as pessoas possam livremente usar, reutilizar e distribuir, sem qualquer restrição legal, tecnológica ou social”15. Assim, o chamado “conhecimento aberto” é obtido quando os dados abertos se tornam úteis, utilizáveis e usados16. Ademais, são essenciais para um sistema de conhecimento aberto um sistema de acessibilidade dos dados, de participação universal e a possibilidade de uso e reuso dos dados, como pontua a “Open Knowledge Foundation”17. Ainda nessa linha, as bases de dados abertas são imensas, podendo englobar dados de cultura, ciência, finanças, estatísticas (censo e indicadores socioeconômicos), clima, meio ambiente, trânsito, segurança pública, sanitários, entre outras inúmeras possibilidades. Os dados abertos podem, ainda, ser sintetizados em 3 (três) leis desenvolvidas por David Eaves, ativista de dados abertos e palestrante na temática de políticas públicas na Escola de Governo de Harvard Kennedy. Assim, pode-se afirmar que “se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, então ele não existe; se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado e se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil”18. 15
16
17
18
“‘Open knowledge’ is any content, information or data that people are free to use, re-use and redistribute — without any legal, technological or social restriction.” Disponível em: https://okfn.org/opendata/. Acesso em: 05.03.2020. “The Open Definition gives full details on the requirements for ‘open’ data and content. Open data are the building blocks of open knowledge. Open knowledge is what open data becomes when it’s useful, usable and used.” Disponível em: https://okfn.org/opendata/. Acesso em: 05.03 2020. “The key features of openness are: Availability and access: the data must be available as a whole and at no more than a reasonable reproduction cost, preferably by downloading over the internet. The data must also be available in a convenient and modifiable form. Reuse and redistribution: the data must be provided under terms that permit reuse and redistribution including the intermixing with other datasets. The data must be machine-readable. Universal participation: everyone must be able to use, reuse and redistribute — there should be no discrimination against fields of endeavour or against persons or groups. For example, ‘non-commercial’ restrictions that would prevent ‘commercial’ use, or restrictions of use for certain purposes (e.g. only in education), are not allowed.” (Disponível em: https://okfn.org/opendata/. Acesso em: 05.03.2020). “As chamadas três “leis” dos dados abertos não são leis no sentido literal, promulgadas por algum Estado. São, em suma, um conjunto de testes para avaliar se um dado pode, de fato, ser considerado aberto. Elas foram propostas pelo especialista em políticas públicas, ativista dos dados abertos e palestrante de políticas públicas na Harvard Kennedy School of Government David Eaves. São elas: (i) Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe; (ii) Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e (iii) Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.
26
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Além dessas leis, também existem 8 (oito) princípios desenvolvidos pelo “Open Government Data”19: (i) os dados devem ser completos; (ii) os dados devem ser primários; (iii) os dados devem ser atuais e atualizados; (iv) os dados devem ser acessíveis; (v) os dados devem ser processáveis por máquinas; (vi) as bases de dados devem ser acessíveis universalmente e sem discriminação; (vii) os dados devem estar em formato aberto (formatos não proprietários) e (viii) as licenças sobre as bases de dados devem ser livres, ou seja, sem restrição legal.20 Em síntese, “os dados abertos visam garantir e facilitar aos cidadãos, à sociedade e às esferas públicas da federação, o acesso aos dados e informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos, sobre o dia a dia da cidade, com o intuito de promover a interlocução com o governo, para construção de uma cidade melhor para se viver, trabalhar e visitar”21. 5. “CASES” E MODELOS ENCONTRADOS NO EXTERIOR A melhor compreensão do tema de cidades inteligentes passa por analisar movimentos e modelos que vem sendo aplicados em projetos no exterior, principalmente no âmbito da União Europeia. Nesse sentido, destacam-se os modelos de Copenhagem (Dinamarca), Barcelona (Espanha), Amsterdam (Países Baixos) e Lisboa (Portugal). Além dessas cidades, o projeto EuroCities22 traz ainda interessante mapa e base de dados sobre os movimentos que estão sendo iniciados em dezenas de outras cidades europeias. A cidade de Copenhagem criou (maio/2016) o primeiro mercado de dados do mundo, chamado de “City Data Exchange”23. A base de dados unificada de Copenhagem tem dezenas de fontes diversas de dados, algumas delas acessíveis apenas mediante pagamento. O que parece ser um problema (dados deveriam ser abertos) se mostra como uma interessante novidade.
19
20
21
22 23
As leis foram propostas para os dados abertos governamentais, mas pode-se dizer que elas se aplicam aos dados abertos de forma geral, mesmo fora de ambientes governamentais. Por exemplo, em empresas privadas, organizações da sociedade civil e organismos internacionais. O Banco Mundial, por exemplo, disponibiliza dados abertos.” (Disponível em: http://www.dados.gov.br/pagina/dados-abertos. Acesso em: 05.03.2020). Disponível em: https://opengovdata.org/. Acesso em: 05.03.2020. A versão detalhada em inglês pode ser encontrada no sítio eletrônico https://opengovdata.org/. A versão traduzida em português pode ser encontrada no sítio eletrônico http://www.dados.gov.br/pagina/ dados-abertos. BAUER, Izabella. BARACHO, Renata. Dados Abertos e suas aplicações em Cidades Inteligentes. Liinc em Revista Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4767/4311. Acesso em: 05.03.2020. Portal “EuroCities”. Disponível em: http://www.eurocities.eu/eurocities/home. Acesso em: 30.04.2020. MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A Cidade Inteligente – tecnologias urbanas e democracia. Trad. Humberto do Amaral. Editora UBU, p. 75/76.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
27
A ideia é que terceiros agora tenham interesse (patrimonial, inclusive) em coletar e tratar dados relacionados à cidade, na medida em que esses dados depois estarão disponíveis mediante pagamento. Exemplo trazido da literatura mostra como isso funciona: “uma das primeiras iniciativas voltadas a tratar os dados das cidades como commodities foi a troca de dados entre a Strava, proprietária de um aplicativo popular de rastreamento de viagens de bicicleta, e a cidade de Portland, que comprou dados sobre bicicletas em 2014 a fim de melhorar seus processos de planejamento e de ajudar na disponibilização de ciclofaixas”24. Londres vem na esteira do exemplo dinamarquês, e também tenta viabilizar seu próprio mercado de dados; “a lógica por trás desses projetos se harmoniza bem com a filosofia de governo que vê redes e agentes privados como melhores solucionadores de problemas do que as instituições públicas”25, o que não necessariamente é verdade e sequer reflete o pensamento dos autores, contrários à agenda liberal. Merece destaque, também, as cidades de Barcelona e Amsterdam, que fizeram parte do projeto DECODE26 entre 2017 e 2019. Os pilotos rodados nessas cidades visavam Democracia Digital e Dados Abertos (Barcelona), Governança de Dados dos Cidadãos (Barcelona), Registro Digital (Amsterdam) e Vizinhança On-line (Amsterdam). Os resultados dos pilotos nas cidades de Barcelona27 e Amsterdam28 estão disponíveis no sítio eletrônico do projeto DECODE. Lisboa se destaca pela centralização das informações em portal único “Lisboa Aberta”29, com mais de 300 bases de dados estruturados e divididos em tópicos como saúde, segurança, educação, turismo, entre muitas outras. O portal conta, ainda, com a estratégia de dados abertos da cidade de Lisboa (“Plano de Dados Abertos para a cidade de Lisboa”30). Na mesma linha, vale ressaltar projetos dos quais já foram criados e implementados em relação ao tema, com demonstração do resultado prático que oferecem para o cenário urbano. 24
25
26 27
28
29
30
MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A Cidade Inteligente – tecnologias urbanas e democracia. Trad. Humberto do Amaral. Editora UBU, p. 75. MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A Cidade Inteligente – tecnologias urbanas e democracia. Trad. Humberto do Amaral. Editora UBU, p. 75. PROJETO DECODE. Disponível em: https://decodeproject.eu/. Acesso em: 30.04.2020. Relatório disponível em: https://decodeproject.eu/publications/final-report-barcelona-pilots-evaluations -barcelonanow-and-sustainability-plans. Acesso em: 30.04.2020. Relatório disponível em: https://decodeproject.eu/publications/final-report-pilots-amsterdam-and-sustainability-plans. Acesso em: 30.04.2020. Disponível em: http://lisboaaberta.cm-lisboa.pt. Acesso em: 30.04.2020. Plano disponível em: http://lisboaaberta.cm-lisboa.pt/images/planodedadosabertoslisboa.pdf. Acesso em: 30.04.2020.
28
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
No Brasil nos deparamos com diversas soluções, um exemplo dessas iniciativas seria o CittaMobi31, aplicativo desenvolvido para celular que disponibiliza em tempo real o horário dos ônibus, com previsões mais precisas e cálculo das melhores rotas para o seu usuário. Além de possuir parceria com as empresas operadoras de ônibus para obtenção das informações das rotas de ônibus, o sistema também se utiliza de um regime colaborativo, onde o cidadão pode e deve compartilhar informações sobre rotas incorretas, inexistentes ou sobre eventuais acidentes, e principalmente de reporte de problemas relacionados ao sistema de transporte público. O sistema visa não somente o acesso facilitado de informações públicas oficiais, mas também informações colaborativas, o que torna os dados mais atualizados e consequentemente torna a atuação das entidades públicas mais assertiva. Outro exemplo de iniciativa no Brasil seria a Colab32 que desenvolveu um monitor de gestão de demandas e suporte ao cidadão, facilitando a participação do cidadão na cocriação da cidade, através da zeladoria urbana, consultas públicas, comunicados, entre outros. O aplicativo proporciona um sistema fundado na gamificação, garantindo um maior engajamento do cidadão na contribuição da gestão de sua cidade, e em conjunto permite o gerenciamento das demandas do cidadão pelo governo de forma mais assertiva. Assim, o aplicativo garante uma conexão alternativa direta entre as entidades públicas e os cidadãos. Já no âmbito internacional, como exemplo de uso dos dados abertos para instituição de cidades inteligentes, temos o OUTBARRIERS33, desenvolvido em Granada (Espanha), que é um aplicativo de acessibilidade para pessoas com deficiência visual severa. Em suma, a funcionalidade do aplicativo depende da filiação dos estabelecimentos ao projeto para inclusão de suas informações na plataforma dos OUTBARRIERS. Feita a sua inclusão, os estabelecimentos filiados instalam um dispositivo em sua entrada, que através do sinal de Bluetooth Smart se comunica com o celular do usuário, que será então notificado sobre a adesão do estabelecimento ao aplicativo, e permitirá ao usuário, através do painel de controle, o acesso às informações do estabelecimento, como ofertas e promoções. 6. CONCLUSÃO As últimas décadas sedimentaram a mudança de paradigma da sociedade rural para a sociedade urbana, com a migração massiva das pessoas do campo 31
33 32
CITTAMOBI. Disponível em: https://www.cittamobi.com.br/home/. Acesso em: 29.04.2020. COLAB. Disponível em: https://www.colab.re/. Acesso em: 29.04.2020. OUTBARRIERS. Disponível em: https://outbarriers.com/en/. Acesso em: 29.04.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
29
para a cidade. Esse fenômeno culminou no crescimento desordenado e massivo de milhares de novas cidades não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa concentração populacional nas cidades, com hábitos de vida muito diferentes daqueles do campo, resultou no aumento do consumo de energia, na emissão de gases e na grande demanda nas cidades por serviços, tais como saúde, mobilidade, segurança, educação, entre outros. Diante desse cenário, o uso de dados abertos para desenvolvimento das cidades inteligentes se tornou uma realidade necessária. Isso porque a cidade inteligente implica na concepção da coleta de dados de diferentes segmentos da cidade, com seu processamento para gerar soluções práticas para problemas do cotidiano urbano, ou seja, um local onde as relações e serviços se tornam mais eficientes com a aplicação das tecnologias digitais e telecomunicações. Para tanto, o uso dos dados abertos se torna essencial, posto que, através do uso dos dados e informações produzidas ou sob custódia dos órgãos, se torna possível desenvolver estratégias para garantir uma melhor qualidade de vida aos cidadãos e melhor relacionamento entre a sociedade e as esferas públicas da confederação, resultando na construção de uma cidade melhor. REFERÊNCIAS BAUER, Izabella; BARACHO, Renata. Dados Abertos e suas aplicações em Cidades Inteligentes. Liinc em Revista Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4767/4311. Acesso em: 05.03.2020. BERTIN, Patrícia Rocha Bello et al. A parceria para Governo Aberto como plataforma para o avanço da ciência aberta no Brasil. Transinformação vol. 31, Campinas 2019 Epub Sep16, 2019. Disponível em: https://doi. org/10.1590/2318-0889201931e190020. Acesso em: 20.04.2020. CARVALHO, Luís; CATARINA, Maia. Empreendedores Cívicos e Smart Cities: práticas, motivações e geografias da inovação. GOT n. 10, Porto, dez. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.17127/got/2016.10.005. Acesso em: 29.04.2020. CITTAMOBI. Disponível em: https://www.cittamobi.com.br/home/. Acesso em: 29.04.2020. CARAGLIU, Andrea; DEL BO, Chiara; NIJKAMP, Peter. Smart cities in Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS, 2009. Disponível em: 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS, 2009. Acesso em: 29.03.2020. COLAB. Disponível em: https://www.colab.re/. Acesso em: 29.04.2020. EUROCITIES. Disponível em: http://www.eurocities.eu/eurocities/home. Acesso em: 30.04.2020. EUROPEAN COMISSION – Energy. Disponível em: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union_en?redir=1. Acesso em: 29.04.2020. EUROPEAN COMISSION – Smart Cities. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en. Acesso em: 04.03.2020. EUROPEAN COMISSION – Transport. Disponível em: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ news/2019-10-02-new-guidelines-sump_en . Acesso em: 29.04.2020. EUROPEAN COMISSION – Smart Cities – Smart Living. Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities. Acesso em: 05.03.2020. FUENTES-CERVANTES, L. The Future of Cities is Smart, Inclusive and Sustainable: Research and Proposal of Smart City Layer Implementation for Mexico. RIIIT. Rev. int. investig. innov. tecnol. vol. 6 n. 31 Sal-
30
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
tillo mar./abr. 2018. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-97532018000100002&lang=pt. Acesso em: 30.04.2020. MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. A Cidade Inteligente – tecnologias urbanas e democracia. Trad. Humberto do Amaral. Editora UBU. OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION. Disponível em: https://okfn.org/about/. OUTBARRIERS. Disponível em: https://outbarriers.com/en/. Acesso em: 29.04.2020. PROJETO DECODE. Disponível em: https://decodeproject.eu/. Acesso em: 30.04.2020. PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. Disponível em: www.dados.gov.br. Acesso em: 04.03.2020. SANTOS, Paula Xavier dos; GUANAES, Paulo. Ciência aberta, dados abertos: desafio e oportunidade. Trab. educ. saúde vol. 16 n. 1, Rio de Janeiro, jan./apr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00120. Acesso em: 30.04.2020. SILVA, Patrícia Nascimento; KERR-PINHEIRO, Marta Macedo. Métrica alternativa para dados governamentais abertos na América Latina. Transinformação vol. 31 Campinas 2019 Epub Sep 23, 2019. Disponível em: https:// doi.org/10.1590/2318-0889201931e190009. Acesso em: 28.04.2020.
Capítulo 3 Cidades Inteligentes: Seus Dados não são Bem Público – Confiança e Expectativa do Usuário no Poder Público Caio César Lazare Gabriel Marília Gabriel Moreira Pires
INTRODUÇÃO A tecnologia muda rapidamente as interações com o mundo à nossa volta. Diante disso, são desenvolvidos produtos e interfaces tecnológicas a fim de atender as demandas e anseios dos consumidores e usuários. A sociedade contemporânea colocou em discussão o tema de cidades inteligente e, consequentemente, em evidência os dados pessoais, razão pela qual estes assumem importância estratégica e o seu tratamento passou a ser elemento fundamental da sociedade de informação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, nº 13.709/2018) foi inspirada pela General Data Protection Regulation (GDPR), aprovada pelo parlamento europeu e em vigor desde maio de 2018. Em linhas gerais, a lei brasileira veio impor a cultura na utilização de dados pessoais e busca, entre os seus objetivos, proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural1. Para uma sociedade com tantas interações virtuais sensíveis entre o poder público, somada à possibilidade de transferência de dados pessoais detidos pelo Poder Público às entidades privadas – devidamente amparadas por contratos e convênios –, o tratamento de dados pessoais é tema de extrema relevância. O setor público vale-se do tratamento de dados pessoais dos cidadãos como um grande instrumento para gestão pública, sendo utilizado não apenas para a elaboração e execução de políticas públicas, mas também para o oferecimento de diversos serviços. A Lei Geral de Proteção de Dados apresenta um capítulo ao tratamento de dados pessoais pelo Poder Público e, portanto, a grande tarefa que se impõe é a preparação deste setor para lidar com os dados pessoais coletados. Nesse 1
Artigo 1º da LGPD.
32
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
sentido, cabe à Administração Pública apresentar atuação com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, tendo como grandes pilares a proteção da privacidade, transparência e livre acesso. Tais pilares servem como fonte primária da confiança dos administrados na administração, especialmente em tópico tão sensível como o tratamento de dados pessoais. Em síntese, não caberia à administração tão somente tratar os dados em conformidade com a lei, é essencial que o serviço público seja bem prestado, de forma a reconfortar o usuário quanto à quantidade, adequação e segurança dos dados que estão seguros com o Estado. DESCOMPLICANDO PRINCÍPIOS E CONCEITOS DA LEI O tratamento de dados consiste em toda operação realizada com dados pessoais, isto é, na coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.2 Dado pessoal é o que identifica ou o que torna identificável e dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.3 Sendo válido ressaltar que, se a coleta é de dado pessoal para somar com uma inteligência, este deverá ser tratado como sensível. Dado anonimizado é referente ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Nesse caso, o tratamento de dados anonimizado não está submetido às regras da LGPD, visto que o titular não é identificado.4 Dado pseudonimizado apresenta uma criptografia que não permite, de plano, identificar quem está por trás daqueles dados. A pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro5. Entretanto, é possível identificar o titular se a criptografia for quebrada, isto é, a informação de anonimato é reversível. Válido lembrar que a LGPD aplica-se à pessoa natural e à pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua 2
4 5 3
Artigo 5º, inciso X, da LGPD. Artigo 5º, incisos I e II, da LGPD. Artigo 5º, inciso III, da LGPD. Artigo 14, parágrafo 4º, da LGPD.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
33
sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que (i) a operação de tratamento seja realizada no território nacional; (ii) a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (iii) os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.6 Duas figuras importantes constante na lei são: controlador e operador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. No âmbito público, o controlador será o órgão/entidade/empresa pública ou sociedade de economia mista que tomará as decisões acerca do tratamento de dados pessoais e o operador será aquele que processar os dados pessoais em nome de um órgão/entidade/empresa pública ou sociedade de economia mista. O tratamento de dados deve observar a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização com prestação de contas. Assim, antes de atuar com dados, é fundamental ter um propósito adequado a uma determinada finalidade, não sendo possível desvirtuá-lo na mesma atividade. O tal propósito deve ser informado de forma clara, objetiva e precisa aos titulares, de maneira que fique evidente o porquê da coleta, como será usado o que for coletado, quanto tempo o dado ficará armazenado, se existe a possibilidade de ser compartilhado ou não. Em especial, é indispensável que exista uma compatibilidade entre o fato do levantamento e a finalidade do órgão/entidade/empresa ou sociedade de economia mista. Assim como também é imprescindível a consciência de que a solicitação de dados deve se restringir ao mínimo para determinada finalidade, ou seja, deve existir um filtro para identificar o que realmente é indispensável exigir. Com a finalidade de evitar qualquer problema perante os usuários, bem como responsabilização perante autoridades, é esperado que a política de privacidade da empresa seja devidamente construída e periodicamente revisada. O tratamento de dados pessoais pela União, Estado, Município e Distrito Federal deverá, necessariamente, atender a sua finalidade pública com fundamento no interesse público e fornecer o devido serviço público, sempre informando as situações e hipóteses que realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre essa atividade.7 A 6 7
Artigo 3º da LGPD. Artigo 23, inciso I, da LGBD.
34
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento pelo Poder Público. Outrossim, a lei exige que o ente público indique um encarregado, que atuará como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais. A regra geral é no sentido de proibir a transferência de dados para entidades privadas. Entretanto, existem exceções, quais sejam: execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei de Acesso à Informação; se for indicado um encarregado para as operações de tratamento de dados pessoais; quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; para a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados; nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente.8 Uma das hipóteses para o tratamento de dados é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada, vulgo, consentimento. Naturalmente, a comunicação e uso compartilhado de dados com entidades privadas, por pessoas jurídicas de direito público, dependerá do consentimento do titular. Entretanto, essa regra também apresenta exceções que se apresentam no artigo 27 da LGPD. Em virtude dessas disposições, fica evidente que, ao realizar atividades com dados pessoais, desenvolver uma política de governança de dados precedida de um mapeamento de dados é uma medida que se impõe ao setor público (e ao privado também). Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.9 COLETA DE DADOS EM SÃO PAULO: BILHETE ÚNICO Na busca de uma cidade inteligente, foram criados mecanismos que visam facilitar o cotidiano dos cidadãos, entre eles, o Bilhete Único. Um cartão 8 9
Artigo 26, parágrafo 1º, da LGPD. Artigo 50 da LGPD.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
35
inteligente que armazena créditos eletrônicos monetários e temporais para pagamento de tarifas no Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo, gerenciado pela SPTrans, e o Sistema Estadual de Transporte Público Metropolitano Metroferroviário (Metrô e CPTM). Esse cartão foi implantado pela SPTrans para oferecer economia, segurança e praticidade aos usuários desses sistemas.10 Com base em junho de 2019, foram vendidos mais de R$ 600 milhões de reais de créditos do Bilhete Único, sendo que 2/3 desse valor (64,56%) veio do sistema de ônibus e 1/3 do todo o setor metroviário (linhas da CPTM e do Metrô de SP). A maior receita do BU origina-se da Venda de Crédito de Vale Transporte (VT), que abocanha praticamente 51% do total. Na sequência, vem a venda de crédito comum, com 43%.11 Hoje, quando um usuário se cadastra no sistema da prefeitura de São Paulo, naturalmente e obrigatoriamente, fornece RG, CPF, CEP residencial, data de nascimento e foto digitalizada. No caso do bilhete único estudantil, há coleta da instituição de ensino, assim como no caso do bilhete único fornecido pelo empregador. O sistema torna opcional o preenchimento do perfil socioeconômico, a não ser para os casos de isenção. Isso ocorre em virtude do aceite do usuário que, para emissão de seu Bilhete Único, afirma estar ciente da inclusão de seus dados no banco de dados da SPTrans. Assim sendo, estamos diante de uma coleta de dados que permite o rastreamento de trajetos realizados e por quem. Com esses dados, é totalmente possível inferir a renda da pessoa, seu local de trabalho, seus hábitos de lazer e consumo, entre outros. Além disso, até março de 2019, todos os Bilhetes Únicos eram emitidos com uma foto do usuário para evitar a fraude. Porém, desde que a tecnologia de reconhecimento facial vem ficando mais robusta e, ao mesmo, o banco de dados da prefeitura aumenta, os cartões agora emitidos não contam mais com foto. A tecnologia de reconhecimento facial age no momento que o passageiro passa o Bilhete Único: uma câmera acima dos validadores bate a imagem com o banco de dados para buscar algum possível problema12 e se a validação dos dados for negativa o cartão do passageiro é bloqueado. 10
11
12
Disponível em: http://www.sptrans.com.br/perguntas-e-respostas/?sobre=bilhete-unico#21579. Acesso em: 08/01/2020. São Paulo já tem mais de 20 mil pontos de recarga de Bilhete Único. Publicado em: 18 de julho de 2019 no Diário do Esporte. Disponível em: https://diariodotransporte.com.br/2019/07/18/sao-paulo-ja-tem -mais-de-20-mil-pontos-de-recarga-de-bilhete-unico/. Acesso em: 09/01/2020. ZVARICK, Leonardo. Reconhecimento facial bloqueia 331 mil bilhetes únicos em SP. Disponível em: https://agora.folha.uol.com.br/amp/sao-paulo/2019/06. Acesso em: 20/01/2020 PAYÃO, Felipe. São Paulo bloqueia 331 mil Bilhetes Únicos após reconhecimento facial. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/seguranca/142472. Acesso em: 20/01/2020.
36
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Vale ressaltar que a foto somada ao reconhecimento facial é caracterizado como dado sensível, de acordo com o já vigente Regulamento Geral de Proteção de Dados, em seu art. 9º, 1, da União Europeia, e com o art. 5º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrará em vigor em agosto de 2020 no Brasil. Antes da regulamentação, o Poder Público e o setor privado não tinham a obrigação de informar como esses dados serão usados, por quanto tempo eles são armazenados e quem seria o responsável por responder eventuais violações. Em virtude disso, a comercialização, invasão e divulgação de informações em massa sem o consentimento era comum e natural. Entretanto, felizmente, o cenário mudou. Isso tanto é verdade que a Lei de dados barrou a Prefeitura de São Paulo em seus planos de vender informações do Bilhete Único. O cruzamento de diversos bancos de dados é interessante para empresas de outros setores o acesso a essas informações. Como por exemplo, é muito comum que empresas paguem valores altos em troca dos dados para o envio direcionado de propagandas. Em 2017, a gestão dos dados foi vista sob uma ótica mercadológica, razão pela qual a Prefeitura de São Paulo apresentou um plano de concessão do Bilhete Único. A estratégia era repassar a bancos e instituições financeiras, como operadoras de cartão de crédito, a gestão da plataforma com 15 milhões de cartões de usuários do transporte público. A partir do momento que o usuário utiliza o bilhete único, automaticamente e involuntariamente, dados são gerados e, consequentemente, formam uma base de dados valiosa para o setor privado. Acontece que esses dados devem ser protegidos de maneira que haja a segurança de que não serão compartilhados ou vendidos. Na época, os usuários não simpatizavam com a ideia e demonstraram reservas quanto à venda de seus dados. Perfeitamente compreensível, pois no momento da coleta dos dados não houve qualquer menção à política de privacidade, tampouco explicação e pedido de concordância do cidadão para uso de seus dados. Sem transparência na coleta de dados, o cidadão não consegue se defender ou questionar, por exemplo, se ele é realmente obrigado a fornecer dados para ter acesso a um serviço público de transporte.13 Com a nova lei de proteção de dados, somada aos princípios constitucionais já existentes, é fato que o compartilhamento ou comercialização da base dados fere frontalmente ao direito à privacidade – direito humano basilar de uma sociedade democrática. 13
CARDOSO, Marina. Privacidade na internet: chega de andarmos todos nus. Disponível em: https:// www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/. Acesso em: 20/01/2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
37
A professora aposentada da escola de administração de Harvard, Shoshanna Zuboff, entende que privacidade é ter o direito de decidir como você quer viver, o que você quer compartilhar, e o que você escolhe expor aos riscos da transparência. No que ela chama de “capitalismo da vigilância”, esses direitos são tirados das pessoas sem que elas saibam, entendam ou consintam, para se criar produtos que preveem nosso comportamento. Direitos decisórios são fundamentalmente políticos. Então, trata-se de concentração de poder político em instituições que não autorizamos, não as elegemos, não votamos nelas, não aprovamos essa transferência de direitos e poder.14 PROBLEMAS CONTEMPORÂNEOS DO BILHETE ÚNICO Em julho de 2019, foi amplamente noticiado que o sistema de bilhetagem eletrônico foi apontado como inseguro pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), conforme relatório do processo TC/010140/2019. A insegurança decorre do uso de tecnologias ultrapassadas tanto nos bilhetes como no sistema responsável pelo processamento de dados. Nesse relatório, o TCM apontou que 60% dos bilhetes em circulação utilizavam tecnologia ultrapassada e passível de fraude, sendo considerados inseguros e os 40% restantes, apesar de possuírem tecnologia superior, não funcionam de forma amplamente segura, uma vez que o software de processamento da SPTRANS encontra-se defasado, sendo utilizado desde 2004, ano de implementação do bilhete.15 A SPtrans apresenta duas linhas que merecem atenção: os cartões fabricados antigamente e o sistema de chaves privadas que permite acesso de poucas pessoas. Considerando os riscos e prejuízos, o TCM recomendou a substituição dos bilhetes antigos com a finalidade de sanar eventuais problema. Tal recomendação resolve o problema de maneira parcial. Isso porque, embora o sistema de recargas tenha sido concebido com chaves privadas (ou seja com poucos acessos autorizados), ele encontra-se comprometido desde 2015, oportunizando a violação do sigilo dessas chaves. Em razão da falta de segurança, fabricar créditos de bilhete único passou a ser comum e muitos cartões foram apreendidos ou cancelados. A ausência de atualização e modernização facilitam fraudes e, consequentemente, prejuízos ao sistema de bilhetagem eletrônica como um todo. 14
15
JUNIOR FEITOSA, Alexandre. Seus dados pessoais poderão ser vendidos por empresas em São Paulo. Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br. Acesso em: 20/01/2020. TOLEDO, Luiz Fernando; GIANCOLA, Carolina; DIAS, Gian; MANCUSO, Filippo. Tribunal de Contas do Município aponta que Bilhete Único tem tecnologia ultrapassada e insegura. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/11/. Acesso em: 20/01/2020.
38
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A Prefeitura já gastou R$ 21 milhões pelo programa de troca de sistema do Bilhete Único, objetivando combater fraudes do cartão de transporte municipal. Até o presente momento, o trabalho de modernização da plataforma não foi concluído, razão pela qual, recentemente, foi anunciado que a Prefeitura de São Paulo rescindiu o contrato de consórcio formado pelas empresas Tivit e PC Service, requisitando o ressarcimento do dinheiro.16 Não fornecida informação e justificativa para a demora na atualização da plataforma, a empresa PC Service, anteriormente, alegou que ocorreu uma adequação do cronograma devido a um acordo de ampliação dos serviços e que todas as etapas são discutidas regularmente com a SPTrans. O consórcio acusado afirma que está em conformidade com a sua parte do contrato. A empresa Tivit afirma que sua atuação restringe a prestação de serviços de infraestrutura no centro de dados do bilhete único e que o seu serviço está em conformidade com o contrato e a PC Service, responsável pela instalação do software, afirmou que já entregou um sistema de reconhecimento facial à prefeitura. Em 2017, houve a implantação do sistema de reconhecimento fácil que desencadeou na identificação e bloqueio de mais de 300 mil cartões fraudados, sistema esse objeto de polêmica no tempo de seu lançamento17, uma vez que os dados dos usuários foram incluídos em um pacote de privatizações e seriam comercializados com iniciativa privada. Agrave-se o fato que a cessão da base de dados gerada pelo reconhecimento facial foi anunciada sem um plano específico de qual uso das informações coletadas, ou diretrizes de segurança ao usuário sobre a manutenção de seu anonimato, sendo possível identificar o sujeito, seus hábitos de deslocamento e consumo do serviço – o chamado “Profiling”. A coleta e o tratamento de tais dados não são vedados por nenhum diploma legal vigente, porém com o advento da lei geral de proteção de dados – LGPD o tratamento de dados por qualquer sujeito – seja público ou privado – deve ocorrer de forma justificada e encontrar-se amparado nas bases legais da citada lei. Por fim, atualmente, estamos diante de uma incongruência. A promessa da Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans) era colocar um novo sistema anti-hackers no primeiro semestre de 2020 e a realidade foi a desistência do programa após já ter pago milhões.18 16
17
18
METRO JORNAL. Bilhete único: São Paulo rescinde contrato de sistema antifraude que custou R$ 21 milhões. Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2020/02/06/. Acesso em: 06/02/2020. DANTAS, Tiago; DANTAS, Dimitruis. Doria oferece dados de usuários de bilhete único à iniciativa privada. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil. Acesso em: 20/02/2020. MANCUSO, Filippo. Prefeitura de SP desiste de sistema anti-fraude no bilhete único de transporte após pagar R$ 21 milhões. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/06/. Acesso em: 10/02/2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
39
EU, USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO, ESTOU PROTEGIDO? O Poder Público demonstra estar atento aos benefícios da tecnologia, entendendo que a ferramenta de coleta e processamento massivo de dados traz facilidades para os desafios da gestão pública e soluções mais eficazes para a realidade de problemas. Considerando que informações sobre os usuários estão estruturadas em bancos de dados, que permitem seu cruzamento por sistemas chamados de “big data” ou “business inteligence” (BI) que permitem usos com as mais diversas finalidades, é importante que o usuário tenha um controle mínimo sobre esse processo. Big data não é uma única tecnologia, mas uma combinação de tecnologias novas e antigas que ajudam as empresas a conseguirem ideias viáveis. Portanto, big data é a capacidade de administrar um volume enorme de dados diferentes, na velocidade certa e dentro do prazo certo para permitir análises e reações em tempo real.19 A coleta massiva de dados, somada ao Big Data trazem uma série de desafios. Sendo assim, a Administração Pública passa a ter compromissos em fornecer governança e segurança das informações. Governança de informação nada mais é que a criação de recursos de informações que podem ser confiados a empregados, parceiros e clientes, assim como organizações governamentais, isto é, é a capacidade de definir práticas e políticas de segurança, acesso, documentação, planejamento, integração e a monitoração dos dados dentro das companhias. De mãos dadas com a governança, surge a segurança da informação. A confidencialidade, integridade, disponibilidade e confiabilidade da informação são cruciais para o cotidiano daqueles que lidam com dados pessoais. Sem a aplicação consistente de segurança, o risco de exposição de dados pessoais de usuários/consumidores é enorme e, consequentemente, a reputação daquele que coleta/processa dados também está em risco. Nesse contexto, é necessário que os usuários tenham plena confiança nas instituições que os governam. Acontece que a realidade é outra. A grande maioria das instituições perderam a confiança aos olhos da população. Isso tanto é verdade que, Quando a política não deu mais conta de resolver os conflitos, as pessoas voltaram-se para as telas de seus telefones em busca de solução. Calhou de essas pequenas telas terem se tornado majoritárias nas mãos dos brasileiros 19
HURWITZ, Judith. NUGENT, Alan. HALPER, Fern. KAUFMAN, Marcia. Big data para leigos. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2015. p. 15.
40
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
justamente nesse período. Foi a proverbial tempestade perfeita: Lava Jato, crise de representatividade, polarização política, celulares mais espertos e mídias sociais para as massas – tudo ao mesmo tempo.20 Importante ressaltar que neste panorama que ocorreu um aumento sensível dos índices de dúvida da população nas instituições em geral, conforme o gráfico Índice de Confiança Social – ICS do Ibope, é possível notar sucessivas quedas em todos índices desde seu momento inicial em 2009, conforme segue:
Fonte: https://piaui.folha.uol.com.br/era-da-desconfianca
Destaca-se desses índices que os governos locais, ou seja, as municipalidades sofreram uma redução de 21% no índice dessa pesquisa, e no caso específico da cidade de São Paulo a Pesquisa “Qualidade de Vida – Viver em São Paulo”, realizada pelo IBOPE Inteligência e encomendada pela Rede Nossa São Paulo, evidencia uma desconfiança de 22% em 2018, ou seja, mesmo após uma recuperação de cinco pontos percentuais em relação a 2017, apenas um de cada cinco habitantes confia na prefeitura21. Como exemplo de punição, destaca-se decisão da Justiça de São Paulo, que determinou no ano passado, em sede de ação promovida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), o desligamento de equipamentos que faziam o reconhecimento facial de passageiros nas plataformas de linha de metrô de São Paulo. A decisão destaca não ter ficado clara a exata finalidade da captação 20
21
TOLEDO, José Roberto. A Era da desconfiança. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/era-dadesconfianca/. Acesso em: 20/01/2020. DIÓGENES, Juliana. Pela 1ª vez desde 2013, volta a crescer nível de confiança nas instituições em SP. Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pela-1-vez-desde-2013-volta-a-crescer-nivel-de-confianca-nas-instituicoes-em-sao-paulo,70002690900. Acesso em: 27/01/2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
41
das imagens e a forma como os dados eram tratados pela empresa ré e que tal captação deveria ser objeto de ostensiva informação aos passageiros, inclusive diante da natureza pública do serviço prestado. CONCLUSÃO Atire a primeira pedra quem nunca aceitou os termos e condições sem nunca ter lido nenhum termo ou condição. Pois é, dados são entregues por pura conveniência. Porém, nem todos sabem que: toda ação gera um rastro; esse rastro vai alimentar alguma base de dado; e essa base de dado é um arquivo valioso a respeito de comportamentos, cotidiano, preferências, desejos e vulnerabilidades. É indiscutível que os desafios advindos das novas tecnologias são muitos, especialmente aqueles ligados aos dados produzidos por pessoas físicas. Uma vez compilados e organizados tais bancos de dados permitem que se conheça o sujeito, por vezes tão bem como pessoalmente. Esse perfil criado permite o direcionamento de informação ao sujeito de forma nunca antes vista, em que tais usos variam desde o uso comercial por empresas na forma publicidade direcionada até a disseminação de notícias falsas com viés político. Em resumo, é possível influenciar o sujeito como nunca antes fora possível, assim como as vidas privadas nunca estiveram tão expostas quanto hoje. No entanto, precisamos ter em conta que as tecnologias não são necessariamente boas ou ruins quanto aos seus fins. O seu uso será definido pelos interesses predominantes na sociedade. Dessa forma, como em toda inovação tecnológica, o Direito passa a regular o uso dessas novas formas de interação da sociedade, visando assegurar princípios, direitos e deveres e principalmente coibir abusos pelas classes e órgãos mais abastados. No caso do tratamento de dados, novos marcos legais foram propostos tornando-se referenciais dessa nova realidade, destacando-se a GDPR na Europa e a LGPD no ordenamento nacional, ambas normativas possuem especial enfoque na preservação da privacidade do sujeito e na adequação e necessidade de coleta e tratamento de dados pessoais como mecanismo de se evitar o abuso dessas ferramentas. No caso em análise, propõe-se que seja revista a coleta de dados pelo poder público municipal, primeiramente para que a municipalidade se adeque aos novos paradigmas legais, sem prejuízo às suas necessidades, especialmente à detecção e prevenção de fraudes ao sistema de bilhetagem, fato esse que tem potencial para causar danos à prestação do serviço de transporte e ao erário público. Tal necessidade de adequação não deve ser vista como ônus, mas como oportunidade para que o poder público preste um melhor serviço, e o presente artigo propõe que o mecanismo dessa adequação seja a revisão de seus
42
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
contratos com entes privados que prestam o serviço de bilhetagem atualmente defasados em segurança. Alternativamente, o poder público municipal poderia seguir o modelo de outras municipalidades europeias que atualmente possuem uma central única com os dados dos administrados, concedendo acesso aos órgãos e empresas da administração conforme a necessidade de cada um deles. Independentemente da opção pelo tratamento de dados por empresas contratadas ou in-house, a adequação do sistema aos padrões de segurança e necessidade que a lei propõe permite maior efetividade do serviço público, menores custos ao erário público. Colateralmente, a adequação ao novo marco legal traz transparência perante o usuário, fato este que tem potencial para auxiliar o poder público a recobrar a confiança do administrado nas instituições que se deteriorou nos últimos anos. Em outras palavras, a adoção de uma política de proteção de dados na municipalidade, em especial no sistema de bilhetagem, permitiria ganhos em segurança, prevenção a fraudes, perdas financeiras na operação e maior confiança da população no poder público. Idealmente, defende-se que tal política seja implantada o quanto antes e replicada em toda a administração, com as adequações necessárias para atender às especificidades de cada serviço prestado, permitindo uma cidade mais inteligente, moderna e segura atendendo ao direito universal que os sujeitos possuem de resguardar sua privacidade. REFERÊNCIAS BEZERRA, Arthur Coelho. Privacidade em perspectivas: Os Reflexos do Grande Irmão no Admirável Espelho Novo de Black Mirror. Organizadores: Sérgio Branco e Chiara de Teffé. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. BRAGA, Lamartine Vieira; ALVES, Welington Souza; FIGUEIREDO, Rejane Maria da Costa; SANTOS, Rildo Ribeiro dos. O papel do Governo Eletrônico no fortalecimento da governança do setor público. Disponível em: https://search.proquest.com/openview/e683eeaa069b662aed4a721ef686e187/1?pqorigsite=gscholar&c bl=2045880. Acesso em: 10/01/2020. CARDOSO, Marina. Privacidade na internet: chega de andarmos todos nus. Disponível em: https://www. cartacapital.com.br/blogs/intervozes/. Acesso em: 20/01/2020. CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. CASTRO, Catarina Sarmento. Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais. Coimbra: Almedina, 2005. DANTAS, Tiago; DANTAS, Dimitruis. Doria oferece dados de usuários de bilhete único à iniciativa privada. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil . Acesso em: 20/02/2020. DIARIO DO TRANSPORTE. São Paulo já tem mais de 20 mil pontos de recarga de Bilhete Único. Disponível em: <https://diariodotransporte.com.br/2019/07/18/sao-paulo-ja-tem-mais-de-20-mil-pontos-de-recarga-de-bilhete-unico/> Acesso em: 09/01/2020. DIÓGENES, Juliana. Pela 1ª vez desde 2013, volta a crescer nível de confiança nas instituições em SP. Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pela-1-vez-desde-2013-volta-a-crescer-nivel-de-confianca-nas-instituicoes-em-sao-paulo,70002690900. Acesso em 27/01/2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
43
GODINHO, Adriano Marteleto; ROBERTO, Wilson Furtado. Marco Civil da Internet: A guarda de registros de conexão: o marco civil da internet entre a segurança na rede e os riscos à privacidade. Organizadores: George Salomão e Ronaldo Lemos. São Paulo: Atlas, 2014. HURWITZ, Judith. NUGENT, Alan. HALPER, Fern. KAUFMAN, Marcia. Big data para leigos. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2015. JUNIOR FEITOSA, Alexandre. Seus dados pessoais poderão ser vendidos por empresas em São Paulo. Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br. Acesso em: 20/01/2020 MANCUSO, Filippo. Prefeitura de SP desiste de sistema anti-fraude no bilhete único de transporte após pagar R$ 21 milhões. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/06/. Acesso em: 10/02/2020. METRO JORNAL. Bilhete único: São Paulo rescinde contrato de sistema antifraude que custou R$ 21 milhões. Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2020/02/06/. Acesso em: 06/02/2020. PAYÃO, Felipe. São Paulo bloqueia 331 mil Bilhetes Únicos após reconhecimento facial. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/seguranca/142472. Acesso em: 20/01/2020. SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Tudo sobre tod@s: Redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais. São Paulo: Edições Sesc, 2017. SPTRANS. Disponível em: http://www.sptrans.com.br/perguntas-e-respostas/?sobre=bilhete-unico#21579. Acesso em: 08/01/2020. TOLEDO, José Roberto. A Era da desconfiança. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/era-da-desconfianca/>. Acesso em: 20/01/2020. VAZ, José Carlos. Desafios para a inclusão digital e governança eletrônica. Disponível em: https://www.polis. org.br/uploads/808/808.pdf. Acesso em: 10/01/2020. ZVARICK, Leonardo. Reconhecimento facial bloqueia 331 mil bilhetes únicos em SP. Disponível em: https://agora.folha.uol.com.br/amp/sao-paulo/2019/06. Acesso em: 20/01/2020.
Capítulo 4 E.governação, Transparência e Proteção de dados: A Caótica Perspetiva Portuguesa (Rectius, Europeia)1 Isabel Celeste M. Fonseca
INTRODUÇÃO O que desejamos partilhar neste texto é uma reflexão sobre o alcance das disposições do Regulamento (EU)2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (=RGPD), sobre proteção de dados pessoais, e o impacto que o mesmo está a ter em Portugal, desde finais de maio de 2018. Num momento em que se acaba de conhecer a Lei que em Portugal procederá à execução daquele Regulamento Europeu, a Lei nº 58/2019, de 08 de agosto, muitas são as incertezas sobre como devem as Administrações Públicas comportar-se, agora, no tratamento dos dados pessoais que têm em seu poder2. Na verdade, se, por um lado, o Regulamento Europeu tem como finalidade a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, também é verdade que existe um quadro normativo de matriz nacional que muscula a transparência e o acesso dos cidadãos à informação administrativa no procedimento administrativo e fora dele, sempre que se revele útil o acesso aos registos administrativos. Por conseguinte, este texto procura sobretudo dar conta do caos que se instalou, entre nós, no seio das entidades administrativas, em finais de maio de 2018, em razão, precisamente, do esquecimento das normas nacionais que regulam o modo como as entidades administrativas são obrigadas a tratar da1
2
Texto que serviu de apoio à autora na palestra que apresentou no II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade: Cidades Inteligentes, Humanas, Sustentáveis e a Nova Agenda Urbana, 30, 31 e 01.11, na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, S. Paulo. Sobre o tema e para uma síntese, vd. AAVV, Comentário ao regulamento Geral de proteção de dados, Coord. ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO, Almedina, Coimbra, 2018.
46
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
dos públicos e dados não públicos (e dados pessoais) e o modo como devem superar as incertezas. Houve, aliás, um momento em que nos interrogámos sobre se seria pânico ou aproveitamento do Regulamento (EU)2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, por parte do sector público. Tendo em conta que as entidades administrativas passaram a exigir consentimento aos cidadãos para tratamento dos seus dados, por tudo e por nada, e deixou de publicitar informações cuja publicidade seria obrigatória nos termos da lei, nos domínios da contratação pública e concursos, designadamente alguma doutrina chegou a falar de paranoia pública! Pois bem, importa sublinhar que não é, de facto, com o RGPD que nasce na Europa o direito à proteção de dados pessoais. A bem ver, antes deste Regulamento existia já um quadro normativo no espaço europeu, a Directiva 95/46/CE e outras fontes de direito, incluindo soft law. Contudo, ainda que sem autonomia, o art. 8º da Carta de Direitos Fundamentais da UE já vinha acolhendo esse direito, ainda que ínsito ao Direito ao respeito pela vida privada e familiar3. E idem, o mesmo se diga em relação a Portugal: também não é com a Lei nº 58/2019, de 08 de agosto, que a proteção de dados será imposta como obrigação pela primeira vez às entidades públicas. É neste contexto que procuramos questionar como devem as Administrações Públicas comportar-se como responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais que têm em seu poder, a começar pela necessária distinção a fazer entre o que é dado público e aquilo que é dado pessoal. Depois como concretizar o conceito de dado pessoal afastando-se do tradicional conceito de dado nominativo e associando este ao conceito de dado especial ou sensível. A seguir, conhecer e reconhecer os títulos que habilitam as entidades administrativas a licitamente tratar dados pessoais, uma vez que não têm sempre que pedir o consentimento aos respectivos titulares para o fazer, e muito menos como entidades sujeitas a obrigações de publicação decorrentes da lei. Ainda nos interrogamos como operacionalizar o tratamento de dados pessoais, designadamente quando tem a entidade pública de abrir dados pessoais a terceiro que justifica ter interesse direto, pessoal e legítimo, mesmo sem o consentimento do respetivo titular. Finalmente, interrogamo-nos sobre que tarefas tem o encarregado de proteção de dados e de que forma pode ser responsabilizado. Como se apontou, se, por um lado, o regulamento europeu tem como finalidade a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, também é verdade que 3
Sobre este assunto, para uma síntese, vd. JOEL ARAÚJO ALVES, Da hétero-regulação à auto-regulação publicamente regulada. O novo modelo de proteção de dados pessoais europeu, Tese de Mestrado, FDUP, 2009.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
47
existe um quadro normativo de matriz nacional acolhido na Constituição da República Portuguesa (= CRP) que muscula a transparência e o acesso dos cidadãos à informação administrativa no procedimento e fora dele, sempre que se revele útil o acesso aos registos administrativos. Assim é nos termos dos artigos do Código de Procedimento Administrativo (= CPA) e da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (= LADA, Lei nº 26/2016, de 22.08). Entretanto, enfim, existe a Lei nacional de execução do RGPD, Lei nº 58/2019, de 08 de agosto – uma lei polémica, que a entidade reguladora portuguesa, chamada “Comissão Nacional de Proteção de Dados” (= CNPD) já disse que não vai fazer cumprir na totalidade, pois isso traduziria violação do Direito da União, mormente do RGPD, e a eficácia da sua aplicação (deliberação de 23.09.2019)4. Para ser mais precisa, a CNPD deliberou que desaplicará algumas normas da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, por estas contradizerem manifestamente o estatuído no RGPD, o que viola o princípio do primado da União, bem como prejudica seriamente o funcionamento do mecanismo de coerência que tem como objetivo uma aplicação uniforme das regras de proteção de dados em todo o espaço da EU. Em suma, o tema revela as dificuldades há muito anunciadas de uma Administração Pública perante um novo direito administrativo: um direito sem Estado; um direito que é menos direito e mais soft law e assente em normas técnicas; um direito regulador, que coloca a cargo de entidades imparciais e independentes a supervisão e sancionamento de condutas; um direito que prevê 4
A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) deliberou que desaplicará algumas normas da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, por estas contradizerem manifestamente o estatuído no regulamento europeu de proteção de dados, o que viola o princípio do primado da União, bem como prejudica seriamente o funcionamento do mecanismo de coerência que tem como objetivo uma aplicação uniforme das regras de proteção de dados em todo o espaço da União Europeia. No entendimento unânime da CNPD, algumas normas desta lei, que asseguram a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), põem em causa a aplicabilidade direta do regulamento europeu e, por conseguinte, a eficácia e consistência da sua aplicação, pelo que são contrárias aos Tratados. A CNPD considerou que algumas normas da Lei 58/2019 não podem sequer ser salvas por uma «interpretação corretiva» conforme ao direito da UE, «por ser insuprível a antinomia com as normas do RGPD e com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia», pelo que a CNPD violaria o RGPD se aplicasse a lei nacional. A deliberação da CNPD fundamenta-se na Constituição Portuguesa, que preceitua no seu artigo 8º que as disposições dos Tratados e as normas emanadas das instituições da UE são aplicáveis na ordem jurídica interna nos termos definidos pelo direito da União, e na jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE que determina que as entidades administrativas estão obrigadas a desaplicar as normas nacionais que contrariem o direito da UE. Consequentemente, a CNPD decidiu fixar as normas da lei nacional que, sendo manifestamente incompatíveis com o direito da União, exigem a adoção de tal deliberação, e que desaplicará em casos futuros que venha a apreciar. O elenco de normas vem listado na Deliberação/2019/494, dizendo nomeadamente respeito ao âmbito de aplicação da lei nacional, aos direitos dos titulares, à utilização pelas entidades públicas de dados para finalidades diferentes e ao regime sancionatório.
48
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
procedimentos em que há tendencial eliminação do controlo administrativo prévio e crescente poder repressivo da entidade reguladora; um direito que põe funcionalmente a cargo de privados tarefas públicas, como é esta do responsável pelo tratamento de dados. Enfim, a nova realidade vem colocar em causa doutrinas e consensos sobre a teoria dos direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados à liberdade de expressão, liberdades informáticas e tecnológicas e direito à honra, e sobre a aplicação do direito num quadro cosmopolita ou multinível. O tema revela as dificuldades há muito anunciadas de uma Administração Pública contemporânea perante um novo direito administrativo. Palavras chave: transparência administrativa; acesso à informação; proteção de dados pessoais. What we want to share in this article is a reflection on the scope of the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, applicable in Portugal since the end of May 2018. At a time when the Enforcement Law is coming to light, there are many uncertainties about how Public Administrations should behave in the processing of personal data in their possession. Indeed, while, on the one hand, the purpose of the European regulation is the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, it is also true, on the other hand, that there is a matrix regulatory framework. which enhances transparency and citizens’ access to administrative information in and out of the procedure where access to administrative records is useful. The theme reveals the long-announced difficulties of a Public Administration in the face of a new global administrative law, where, together with the knowledge of the different sources of law (international law, European law, constitutional law and legislated administrative law), it is necessary to consider in this case the proportional solution. Keywords: administrative transparency; access to information; personal data protection 1. O QUADRO EUROPEU (E SUPRANACIONAL) No futuro, serão todos os cidadãos mais transparentes e os Estados mais opacos? Pois bem: o que nos desafia a pensar o assunto: O Círculo! (The Circle): filme que estreou no Brasil em finais de junho de 2017 e que contou com Emma Watson e Tom Hanks nos principais papéis. “The Circle” é uma das empresas mais poderosas do planeta, que intervém no ramo da internet, sendo responsável por conectar os e-mails dos usuários com as respectivas actividades diárias, as suas compras e outros detalhes privados, apostando na ferramenta de “Seechange”. “The Circle” aborda os avanços da tecnologia e das redes sociais, bem como as novas formas de exercer o poder, através do controlo dos
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
49
dados individuais, e o Dilema (moral e ético) de Mae, que se confronta com um projeto desafiante de promoção de transparência (e de controlo democrático), mas que deixa vulnerável o direito à privacidade dos respetivos usuários (incluindo familiares). Pois bem: “The Circle” também existe na vida real e entre nós. E disso é prova a aceleração crescente da aplicação das tecnologias de informação a que estamos expostos. O advento da tecnologia 5G promete separar definitivamente o mundo no qual vivemos de uma grande nova era, nunca antes vista na história. Com a capacidade de operação em tempo real, o 5G disponibilizará dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada de decisões em tempo real. A tecnologia 5G potenciará a emersão da inteligência artificial e maximizará a Internet das coisas (ou Iot, como é internacionalmente conhecida) e o Big data (banco de dados digitais do mundo), permitindo alcançar Projetos 4.0. (aplicação das principais inovações tecnológicas no campo da automação). A revolução digital está em curso, portanto. O 5G não irá causar impacto somente nos nossos telemóveis ao aumentar de 20 a 100 vezes a rapidez da transmissão de dados, concretizando downloads e uploads quase instantâneos. o 5G será controlado pela Inteligência artificial e será a manta digital onde tudo estará conectado e monitorizado, desde as câmaras de segurança do trânsito, o maquinário industrial, sistemas bancários, transporte coletivo, eletrodomésticos, carros autónomos, serviços públicos de segurança, proteção civil e socorro, meios de pagamento e absolutamente tudo o que tiver um interface digital. A indústria 4.0 é o conceito que engloba a aplicação da tecnologia de informação aos processos de manufatura, conectando máquinas, sistemas e ativos, alcançando módulos da produção de forma autónoma, que agenda manutenções, prevê e corrige falhas nos processos de produção. Uma indústria inteligente está prevista e uma nova revolução industrial está também em curso. Pois bem, a tecnologia 5G, a smart city e a smart governance apresentam-nos muitos desafios e muitas interrogações. De acordo com notícias recentes da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil, o início dos leilões do 5G irão acontecer no 1º semestre de 2020, sendo certo que a competição global envolve os gigantes das telecomunicações, Huawei Chinesa, Ericsson (Sueca), Nokia (finlandesa) e as americanas Qualcomm e Intel. E, como sabemos, as grandes empresas de tecnologia e os líderes governamentais vêm avançando no domínio das áreas de inteligência artificial e das telecomunicações, ganhando dados valiosos sobre o comportamento das pessoas e tratando-os com os mais inteligentes (mas nem sempre éticos) algoritmos. Tantas interrogações são apresentadas na realidade: hoje, quem ganha poder sobre quem; quem supervisiona a Google (Facebook), WhatsApp e outros serviços de empresas multimilionárias que detêm dados e informação, que são bens mais valiosos que o petróleo; Guerra em curso entre EAU e China para
50
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
dominar a tecnologia 5G; Como prevenir e controlar fenómenos de espionagem e vazamento de informações (contidas em bancos públicos e privados), tanto de empresas, como dos serviços públicos a que se somam os dados de usuários da internet? Todos conhecemos o documentário “Privacidade Hacheada”, sobre privacidade online e o escândalo protagonizado pelo Facebook e Cambridge Analytica. Os fatos nele relatados e as interrogações feitas antes, bem como a aceleração crescente das smart cities e a ausência de governação inteligente no momento da proteção de dados pessoais fazem-nos evidenciar a necessidade de regulação jurídica supranacional. Na verdade, nesta profusão acelerada de dados, interrogamo-nos sobre a privacidade pessoal e a segurança das liberdades individuais e a credibilidade das instituições jurídicas, tão caros ao modelo de Estado de Direito Democrático, bem como sobre a previsibilidade dos comportamentos dos Estados numa comunidade Internacional frágil. Estes valores podem ser transformados em algo do passado? A necessidade de regulação supranacional é emergente, uma vez que o assunto não é apenas da ceara própria do direito nacional, nem o direito nacional abarca o tratamento dos problemas desde a sua origem até ao lugar onde têm impacto. Existe uma necessidade de regulação jurídica, uma vez que o soft law, a Ética e os Códigos de boas práticas não são suficientes. É aqui que se impõe falar da Regulação Europeia, que tem como propósito a salvaguarda da privacidade dos cidadãos, e que alberga regras sobre o tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados aplicáveis tanto a entidades privadas como a entidades públicas. A disciplina mais musculada de proteção de dados pessoais: O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD): Regulamento Europeu (EU)2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, aplicável em Portugal desde finais de 2018, que veio a ser executada em Portugal pela Lei n.º 58/2019 de 08 de agosto. §1.1. O tema que nos reúne aqui está já há muito na ordem do dia e, sobretudo, desde há um ano quase não se fala de outra coisa no mundo jurídico senão do Regulamento Geral de Proteção de dados. Os que o leram antes de todos invocam-no normalmente com saber distintivo e com um conhecimento especial e os que não o leram ainda estão cada dia mais longe de o fazerem, por temer encontrar um animal feroz, que os primeiros anunciaram com terror, ao mesmo tempo que também davam a conhecer o valor das coimas a aplicar nas situações de infração contraordenacional. O Desafio é, pois, refletir sobre o propósito do Regulamento (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, aplicável desde finais de maio de 2018 “(adiante, também, abreviadamente designado como RGPD ou regulamento”). Ele tem como finalidade a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
51
O regulamento traz um conjunto de novidades, como sejam novos direitos dos cidadãos e novos deveres das entidades públicas e privadas, enquanto sujeitos que tratam dados pessoais. Ele afirma títulos legitimadores para o tratamento de dados pessoais, 5 títulos de legitimação, a par do consentimento, e traz novos conceitos de dados pessoais, a par do conceito de dados pessoais especiais ou sensíveis, que, pensamos nós, não entram em rota de colisão com o Direito nacional e as instituições jurídicas portuguesas, e, em particular, com os conceitos nacionais de dados, dados pessoais, designadamente de dados nominativos, e divulgação de dados pessoais sensíveis a terceiros titulares de um interesse direto e legítimo, no quadro da aplicação metodológica do princípio da proporcionalidade. Lembrando mais aspectos, o Regulamento introduz um conceito de “dados pessoais”, normas sobre legitimação para o tratamento de dados pessoais, princípios sobre o tratamento de dados, normas sobre o Encarregado pelo tratamento de dados, e deveres da Entidade responsável pela aplicação do regime sobre proteção de dados, bem como um quadro de proteção judicial e de Responsabilidade civil, contraordenacional e penal. O conceito de dado pessoal é muito abrangente: qualquer informação, independentemente do suporte, relativa a uma pessoa identificada ou identificável (“titular de dados”), sendo certo que é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um elemento identificador, como, por exemplo, nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica, ou a um ou mais elementos específicos de identidade física, fisiológica, genética, económica, cultural e social dessa pessoa singular. Importa lembrar que o conceito de dados pessoais não coincide com o de Dados especiais ou sensíveis (art. 9º)5. Quanto ao conceito de tratamento de dados, ele corresponde a uma operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais, por meios automatizados ou não, tais como, recolha, registo, organização estruturação, conservação, adaptação, alteração, recuperação, consulta, utilização divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, limitação, apagamento e destruição. A propósito dos títulos de legitimação para o tratamento de dados, Títulos legitimadores de tratamento de dados pessoais, o Regulamento refere-se ao tratamento por consentimento do titular dos dados, para uma ou mais finalidades específicas, nos termos do art. 6º; ao tratamento para cumprir obrigações próprias da relação contratual em que o titular é parte; ao tratamento necessário para defesa de interesse público ou exercício da autoridade pública; 5
Sobre o tema e para uma síntese, vd. TATIANA DUARTE, in Comentário ao regulamento Geral de proteção de dados… cit., pp. 234 a 334.
52
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
ao tratamento para defesa de interesses vitais do titular e ao tratamento para defesa de interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento de dados ou por terceiro, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais6. No que concerne aos princípios a que, nos termos do art. 5º do RGPD, deve obedecer o tratamento de dados, lembre-se, primo, a licitude, os princípios da lealdade e da transparência; a seguir, invocar os princípios da funcionalidade, no sentido de que o tratamento deve ser adequado à finalidade determinada pela recolha, com a exceção do tratamento posterior para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica, apraz sublinhar os princípios da adequação, da pertinência e da suficiência, no sentido de que o tratamento obedece à minimização de dados, considerando os necessários à finalidade da recolha, permitindo a possibilidade de pseudonimização de dados, os princípios da exatidão, correção e destruição imediata quando não exatos e a actualização; e, finalmente, os princípios do direito ao esquecimento e ao tratamento sujeito à proporcionalidade para garantir o acesso à informação necessária na sociedade democrática (art. 5º, nº 4, do RGPD)7. 2. O QUADRO NACIONAL Importa agora descrever a Regulação jurídica portuguesa sobre o tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados. Pois bem, sem prejuízo de reconhecer que em Portugal sempre existiu um quadro normativo que versa sobre o assunto, aplicado simultaneamente por duas Entidades Administrativas Independentes: A Comissão Nacional de Proteção de Dados ( = CNPD) e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (= CADA). E, ainda que não unitário, pois foi sendo de aplicação sectorial, destacando-se especiais domínios de dados com proteção qualificada e outros com mais facilidade de acesso: segurança interna e externa, dados relativos à saúde, investigação criminal, sigilo fiscal, privacidade de pessoas e segredos comercial e industrial e normas sobre informação jornalística. E ainda: ainda que tenha sido o Direito Administrativo o principal instrumento de regulação, vinculando sobretudo as entidades públicas e disciplinando os dados em seu poder, o texto da Carta Fundamental tem a esse propósito um quadro normativo muito claro sobre direitos fundamentais, no nº 1 e nº 2 da art. 268º. 6
7
Sobre o tema e para uma síntese, vd. ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO/CARLOS JORGE GONÇALVES, in: Comentário ao regulamento Geral de proteção de dados… cit., pp. 212 ss. Sobre o tema e para uma síntese, vd. ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO/CARLOS JORGE GONÇALVES, in: Comentário ao regulamento Geral de proteção de dados… cit., pp. 204 ss.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
53
Aliás, não é só na legislação Europeia que a regulação jurídica produzida visa inverter a tendência opaca dos Estados e das instituições jurídicas, impondo deveres de transparência, promovendo a e.governança transparente e procurando que os entes públicos tenham paredes de vidro. Apenas a título de lista, lembrar regras em Portugal que impõem deveres de transparência aos entes públicos e condicionalismos proporcionais na abertura dos seus registos: o art. 268º, nº 1 e nº 2 da Constituição da República Portuguesa (= CRP), o Código de Procedimento Administrativo (=CPA), a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (= LADA: Lei nº 26/2016 de 22 de agosto), que é aplicada por uma entidade administrativa independente (CADA), e a lei de proteção de dados (tendo sido a anterior 67/98, de 26 de outubro, atualmente revogada pela Lei de execução do regulamento europeu, lei 58/2019, de 8 de agosto de 2019). É neste quadro que se impõe falar do impacto do RGPD na atuação de uma Administração Pública constitucionalmente desenhada como sendo Administração Aberta, cujos contornos são talhados pelas regras específicas em matéria de acesso à informação, presentes na CRP, no CPA, na LADA e na LPD. A CRP refere-se aos direitos fundamentais de acesso à informação procedimental e extraprocedimental, nos artigos 268.º, nº 1 e nº 2. “De facto, a transparência da Administração Pública, a existência de uma administração aberta, com “paredes de vidro”, é uma decorrência dos direitos fundamentais de uma cidadania administrativa, de natureza análoga aos direitos liberdades e garantias de acesso dos cidadãos à informação e aos arquivos e registos da Administração Pública”. O CPA prevê o direito à informação procedimental aos diretamente interessados no procedimento e o acesso a elementos que constam do processo salvaguardando-se os momentos classificados ou aspetos fechados do mesmo por acolherem segredo comercial ou industrial, ou segredo relativo a propriedade literária, artística ou cientifica), bem como acolhe o direito a obter certidões dos mesmos (nos termos dos artigos 82º a 85º). Este direito pode ser alargado a pessoas que provem ter interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendem. Todos os direitos podem ser objeto de tutela judicial urgente. O artigo 17º do CPA acolhe o princípio da administração aberta, afirmando que todos têm direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum procedimento esteja em curso, sem prejuízo do disposto em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade de pessoas. Este acesso é previsto na LADA. Este corpo normativo garante o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo matéria ambiental, bem como a sua reutilização. Na LADA também se prevê o princípio da proteção de dados pessoais e a segurança e integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizadas.
54
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
O que deve entender-se por documento administrativo? Qualquer conteúdo que esteja na posse da administração, independentemente do suporte escrito, sonoro ou eletrónico. E o que deve entender-se por documento nominativo? É um documento que contém dados pessoais, definido nos termos do regime legal de proteção de dados (Lei nº 67/98, de 26 de outubro). Assim: é qualquer informação, independentemente do suporte, relativa a pessoa identificada ou identificável, que permitam identificar pessoas singulares, por referência a um número de identificação, ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica cultural e social. É neste contexto que se fala em restrições no direito de acesso quando o acesso não é feito pelo respectivo titular. Restrições estas justificadas por o acesso pôr em risco interesses fundamentais do Estado; por conter direitos de autor ou direitos conexos, segredos comerciais, documentos que dizem respeito a auditorias, sindicâncias, inspeções, processos sancionatórios ainda abertos. Pois bem, o cidadão que quiser aceder a documento nominativo ou solicita autorização ao titular dos dados, ou demonstra interesse direto, pessoal, legítimo, suficientemente relevante após ponderação de todos os interesses em presença, incluindo o da administração aberta, no quadro do princípio da proporcionalidade. De referir que, por intermédio da Lei nº 26/2016, de 22 de agosto, estabeleceu-se uma disruptiva alteração em relação ao direito pregresso quanto ao que se entende por documentos nominativos, fazendo coincidir estes com os documentos administrativos que contenham “dados pessoais, definidos nos termos do regime legal de proteção de dados pessoais” [alínea b) do nº 1 do artigo 3º]. A alteração à LADA traz assim uma nova noção de documentos nominativos distinta da presente no direito pregresso. A Lei nº 46/2007, de 24 de agosto, definia como documentos nominativos “os documentos administrativos que contenham acerca de pessoa singular, identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor, ou informação abrangida pela reserva da intimidade da vida privada. Neste contexto, é, portanto, alargado em muito o conceito de documento nominativo, fazendo-o coincidir com ao conceito de dados pessoais (já de si vastíssimo), o que pode conduzir a uma indesejável restrição ao princípio da administração aberta. 3. E AGORA, QUE QUADRO? Já antes da publicação da Lei nº 58/2009, e num momento em que se aguarda a aprovação da Lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a proposta de lei (Proposta de Lei de execução do RGPD nº 120/ XII), havia incertezas e a interrogação dizia respeito ao modo como deveria a administração continuar a cumprir os deveres de transparência por razões do princípio da legalidade perante um alargamento tão desmesurado do conceito
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
55
de dado pessoal. E deve a Administração Pública deixar de cumprir o direito fundamental dos cidadãos terceiros de obter a informação administrativa, procedimental ou extraprocedimental (isto é, tanto no quadro do direito de acesso à informação no procedimento e no acesso ao arquivos e registos da Administração) para respeitar e fazer respeitar dados pessoais quando não tiver o consentimento do seu titular. São, sobretudo, dúvidas quanto ao impacto que tem, agora, o RGPD nos planos de transparência e de controlo democrático das Administrações Públicas pelos cidadãos, havendo receio que se passe de uma Administração transparente para uma administração opaca, servindo o RGPD como instrumento de legitimação para tudo o que não se quer deixar ver. Enfim, como passar a controlar o recrutamento de pessoal para os quadros da Administração Pública, numa lógica de igualdade de acesso, quando não se puder consultar o curriculum vitae de candidato opositor? Como controlar a legalidade das classificações atribuídas a alunos se não puderem ser afixadas as pautas? Como aferir da legalidade do ajuste direto quando ele se funda em critérios materiais ou como aferir da existência de conflitos de interesse na adjudicação se não for divulgada a necessária informação relativa a adjudicatário? Como aferir do rigor da avaliação de desempenho de docentes ou trabalhador público se não puder aceder a informação suficiente? Como aferir da legalidade de preferência de candidatura de aluno a certo agrupamento escolar se não for possível controlar aspectos pessoais que dizem respeito à respectiva residência e relações familiares? Como chegar à credibilidade de pareceres que suportam decisões administrativas (designadamente de licenciamento de exploração de pedreiras) sem questionar quem os emitiu e que ligação têm com os operadores económicos e os órgãos licenciadores? Enfim, a dúvida é esta: deve hoje a Administração Pública deixar de cumprir os seus deveres de publicitação de atos de adjudicação de bens e serviços, de recrutamento de pessoal para os seus quadros, de avaliação de estudantes, isto é, de deveres por imposição constitucional e legal, de deveres que promovem transparência e tratamento igualitário e imparcial de todos os cidadão e operadores económicos que consigo se relacionam? Importa, pois, evidenciar os desafios da Administração Pública na era da “e-administração”, que, como tratadora de dados pessoais, continua a invocar títulos de legitimação clássicos, como as vinculações jurídico-públicas, o interesse público e direitos-deveres emergentes dos vínculos contratuais, mormente as obrigações legais de publicação, enquanto obrigações cujo cumprimento promove a administração aberta e o exercício de uma cidadania administrativa, permitindo o controlo democrático das suas decisões. E, neste sentido, quanto à pergunta se deve a Administração Pública deixar de considerar o conceito de dado pessoal e documento nominativo tal
56
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
como foi sendo aplicado pela CADA nas últimas duas décadas e recear proceder segundo o princípio de minimização de dados que o RGPD também prevê, a resposta é no nosso entender não recear fazer corresponder o conceito de documento nominativo a dado pessoal sensível ou especial presente no art. 9º do RGPD. É certo que, hoje, a decisão administrativa de divulgação de dados pessoais a terceiros, nos termos da atual LADA, Lei n. 26/2016, de 22 de agosto, no seu art. 6º, nº 5, não se apresenta simples, já que surge balizada numa legalidade multinível. Contudo, assim a divulgação de dados pessoais a terceiro é possível se o respectivo titular autorizar ou se o terceiro demonstrar fundamentadamente ser titular de um interesse direto, pessoal e legítimo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante, após ponderação, no quadro do princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em presença e do princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação. Enfim, impõe-se saber de ora em diante aplicar este princípio da minimização de dados também numa lógica objetiva, sopesando valores entre a proteção de dados pessoais e os deveres públicos de transparência da Administração Pública. Como conciliar? Nenhum direito é absoluto, impõe-se uma harmonização sob pena de obstrução total no acesso à informação e anulação da transparência e controlo democrático da ação administrativa. A decisão proporcional da entidade pública no caso concreto: a divulgação de dado pessoal a outro que não o seu titular pressupõe consentimento deste (ou de informação que se deva considerar fechada por conter segredo comercial ou industrial), o que pressupõe demonstração de interesse direto, pessoal, legítimo de quem requer o acesso, devendo esse interesse ser suficientemente relevante após ponderação de todos os interesses em presença, incluindo o da administração aberta, no quadro do princípio da proporcionalidade e da aplicação da norma metódica da proporcionalidade para de restrição de direitos fundamentais. Impõe-se resgatar a melhor jurisprudência da CADA e fazer uma separação entre o conceito de dado pessoal e o de dado nominativo, sendo certo que só os dados especialmente sensíveis integram ou devem integrar o conceito de dado nominativo, pelo que a harmonização entre transparência da administração e proteção de dados pessoais girará entre dois polos: (i) o respeito pelo acesso dos cidadãos aos arquivos e registos da Administração Pública em ordem a um efetivo exercício das suas garantias e ao assegurar da transparência administrativa, (ii) a minimização nesse caminho do acesso a dados pessoais, mormente os dados pessoais sensíveis. Enfim, para conciliar Direitos fundamentais no Estado de Direito Português, impõe-se promover a defesa da manutenção de deveres de transparência como absolutamente necessária à promoção do controlo externo, tanto ju-
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
57
risdicional como democrático, da Administração Pública, em particular nos domínios da contratação pública, emprego público, ambiente e ordenamento do território, urbanismo, domínios onde a opacidade é suscetível de lesar bens também (igualmente) públicos. São, pois, (in)conclusões que se deixam e estas (in)conclusões são mais perguntas que respostas: como conciliar o Direito nacional como o Direito europeu? Sobretudo quando a Entidade Administrativa independente que regula e fiscaliza o cumprimento da proteção de dados comunica que não aplicará algumas normas da nova lei? Problemas do novo direito administrativo global? é a Legalidade cosmopolita ou multinível? Desaplicar algumas normas internas para aplicar efetiva e proporcionalmente outras de direito europeu… De qualquer modo, eis o novo controle da legalidade administrativa cosmopolita. O admirável mundo novo do direito administrativo global está aqui, portanto.
Capítulo 5 Poder Local e Tecnologia em Cidades Inteligentes Visão Portuguesa e Europeia Carlos Vilas Boas
I. INTRODUÇÃO A importância do tema das cidades inteligentes começa na necessidade de pensar a polis para os nossos filhos e netos, refletir sobre a cidade que queremos para os próximos decénios. Uma grande revolução urbana está a ser presenciada nos dias de hoje e está a provocar uma grande tensão sobre as cidades. Embora as cidades ocupem menos de dois por cento da área do planeta, os habitantes urbanos consomem mais de três quartos dos recursos naturais do mundo e mais de 50% das pessoas vivem em cidades1. O rápido aumento da população mundial e da densidade urbana acarreta graves problemas, preocupações e riscos, tais como a energia, o transporte, a gestão de resíduos, a escassez de recursos, a poluição do ambiente e consequentes problemas de saúde de salubridade e higiene, congestionamento do trânsito, riscos económicos e sociais tais como o desemprego2, o que aporta acrescidas dificuldades das autoridades locais para responder aos desafios colocados por essas novas realidades. Essa veloz urbanização está a criar desafios na forma como pensamos e intervimos na cidade, mas principalmente no futuro e qualidade de vida da comunidade, pois esses problemas são cada vez mais de natureza social, organizacional e, sobretudo, de governance, em vez de problemas técnicos ou físicos. Até poucos anos atrás, o processo de digitalização e automação dos serviços públicos estava prisioneiro da melhoria de cada serviço de forma isolada. 1
2
Cfr World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, p. 1, in http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014Highlights.pdf (consultada em 26 de novembro de 2018). Onde se pode ler : “A população urbana tem crescido progressivamente ao longo do século XX, de maneira que, enquanto em 1950 apenas 30% da população mundial vivia em áreas urbanas, em 2014 esse percentual subiu para 54%, e em 2050 este número deverá atingir 66%.” Vide World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, ob. cit., p. 1.
60
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Contudo, essa limitação não é mais necessária, já que os diferentes serviços numa cidade agora podem ser integrados uns aos outros. A solução tecnológica que oferece uma integração horizontal dos diferentes serviços públicos é denominada “plataformas de cidades inteligentes”3. As plataformas fornecem uma interface única para a gestão de toda a cidade, o que torna as nossas cidades capazes de fornecer um tipo de gerenciamento radicalmente mais eficiente, bem como serviços novos e melhores para os seus cidadãos. As plataformas das cidades inteligentes são desenvolvidas tanto por empresas privadas, quanto por iniciativas colaborativas públicas e são implementadas e usadas num grande número de cidades em todo o mundo. Embora as funcionalidades técnicas das atuais plataformas sejam geralmente boas, muitas ainda são sistemas fechados que apresentam dificuldades relacionadas à integração, transparência, segurança e robustez. A dimensão de uma cidade inteligente traduz-se na inovação, sustentabilidade e inclusão, afigurando-se a governação e a conectividade como dimensões transversais, sendo a utilização de tecnologias de informação e comunicação e de redes digitais um fator crítico de sucesso. Os modelos organizacionais existentes e as plataformas tecnológicas não foram capazes de fornecer todas as necessidades necessárias ao funcionamento das cidades. A tecnologia blockchain poderá oferecer soluções para a melhoria desse funcionamento, através da sua capacidade para fornecer uma plataforma de informações transparente, neutra, não hierárquica, acessível, não manipulável e segura. No entanto, a tecnologia por si só não qualifica uma cidade como inteligente, pois será aquela que incorpora o uso de tecnologias de informação e comunicação para melhorar a vida dos cidadãos. Para isso é necessário que os componentes da infraestrutura da cidade fiquem cada vez mais interconectados, que a infraestrutura urbana convencional seja progressivamente substituída por uma metainfraestrutura digital composta de vários canais de comunicação, nos quais os fluxos de dados permitem que a cidade funcione. O problema é que aos avanços tecnológicos não têm correspondido a essa interconexão, com a consequência da estagnação na evolução das cidades inteligentes, mantendo-se o tema ao nível do início da década que agora finda. Essa falha deriva do assunto ser discutido praticamente apenas ao nível das inovações tecnológicas. O direito tarda a entrar. 3
Cfr. Stefan Junestrand, A blockchain-based governance model for public services in smart cities, outubro 2018, in https://www.openaccessgovernment.org/a-blockchain-based-governance-model/52928/, consultado em 9 de dezembro de 2018.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
61
Constata-se que o tema das cidades inteligentes é tratado praticamente ao nível da tecnologia, não sendo por acaso que a grande maioria dos eventos gira em torno da implementação de novas tecnologias ao serviço da melhoria da vida da cidade, em termos de energia, meio ambiente, transportes e saúde. Todavia, as cidades inteligentes para alcançarem a plenitude do seu interesse precisam de passar para um nível seguinte, de um plano meramente tecnológico para um nível jurídico e, mais acentuadamente, um nível jurídico-político. É de todo recomendável e, até, imperioso construir um direito das cidades inteligentes, densificar conceitos, unir as pontas soltas e dar coerência às inovações tecnológicas que servem para melhorar a vida nas cidades. II. PROBLEMAS E IMPACTO NO CONTEXTO DO PODER LOCAL As Tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm operado uma evolução crescente no modo como as administrações públicas se relacionam com os particulares, através dos atos automatizados4, a administração eletrónica5, os 4
5
O ato administrativo automatizado levanta uma questão central de saber se as autoridades públicas podem basear as suas decisões através do processamento algorítmico de conjuntos de dados, ou se podem essas decisões emergirem automaticamente a partir do processamento algorítmico de conjuntos de dados. No campo da justiça, os algoritmos transformarão o modo como os juízes tomam as suas decisões. Os chamados “algoritmos preditivos”, baseados na constituição e na abertura progressiva, mas massiva e livre, das bases legais – no âmbito do open data – permitem oferecer um apoio à decisão jurisdicional. A aplicação à justiça dessa tecnologia permanece, no entanto, delicada, para o que é urgente criar um quadro ético que impeça discriminações no acesso aos meios judiciais. Sobre este assunto vide Yannick Meneceur, Les systèmes judiciaires européens à l’épreuve du développement de l’intelligence artificielle, in Revue pratique de la prospective et de l’innovation – nº 2 – outubro 2018, pp. 11-16; Gaëlle Marraud des Grottes, Justice prédictive : un livre blanc et une charte éthique pour encadrer l’usage des algorithmes, novembro de 2018, in https://www.actualitesdudroit.fr/ browse/tech-droit/donnees/17857/justice-predictive-un-livre-blanc-et-une-charte-ethique-pour-encadrer-l-usage-des-algorithmes, consultado em 4 de dezembro de 2018;David Forest, “ La régulation des algorithmes, entre éthique et droit”, Revue lamy droit de l’immatériel, in https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/intelligence-artificielle/7176/la-regulation-des-algorithmes-entre-ethique-et-droit. A França pretende banir a inteligência artificial das decisões dos juízes e o uso das tecnologias preditivas do comportamento dos juízes, através do impedimento da publicação de informações estatísticas sobre as decisões dos juízes, conforme vem estipulado numa passagem do artigo 33 da lei 2019-222 de 23/03/19 – programação e reforma para a justiça. A criação da internet – Tim Berners-Lee escreveu o código do primeiro servidor WWW e o primeiro editor de hipertexto para a plataforma NeXTStep, trabalho esse disponibilizado dentro do CERN, em 1990 e na Internet em geral, em 1991, quando juntamente com Robert Caillau publicou a WorldWideWeb: a Proposal for a Hyper Text Project, disponível in http://www.w3.org/Proposal, consultado em 8 de dezembro de 2018 – conduziu à possibilidade da transformação do procedimento administrativo num procedimento eletrónico, de comunicação e de decisão à distância, o que não só altera radicalmente as dinâmicas de contacto entre a administração pública e os particulares, como veio transformar o próprio objeto da atividade administrativa.
62
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
smart contrats e os benefícios retirados da utilização da tecnologia blockchain, fornecendo os instrumentos propícios para a progressiva autonomia do poder local e para o desenvolvimento e afirmação desse fenômeno em auge que são as smart cities. O movimento das cidades inteligentes, aquelas que usam as TIC para melhorar a vida numa cidade e dos seus cidadãos, revela-se numa transformação gradual, mas profunda, da infraestrutura das cidades. Uma área de mudança que aporta o modelo das cidades inteligentes diz respeito à governação. Há uma enorme margem de incerteza em torno da maneira pela qual a operação das cidades inteligentes será regulada e, especialmente, a maneira pela qual a ação pública e privada se entrelaçará. Sem dúvida que a governação das cidades inteligentes será marcada pela livre circulação de uma quantidade crescente de informações sobre as suas operações: essa mudança é a semente para transformar a relação entre autoridades públicas, cidadãos e organizações privadas, por uma espécie de potencial reequilíbrio dessas relações. A importância do tema ultrapassa a mera curiosidade científica, tendo amplo relevo prático, pois, a partir da autossustentabilidade que resulta da afirmação de uma cidade como inteligente, esta pode ser concretizada como 6
6
O smart contract é um protocolo de transação computorizado que executa os termos de um contrato. A primeira vez que se conheceu a utilização do termo “smart contract” aconteceu via Nick Szabo, “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”, First Monday Peerreviewed Journal of the Internet, Vol. 2, Number 9 (September 1997). Szabo dá, no artigo, um exemplo claro de como um contrato digital responde às exigências de formalização e de segurança no cumprimento do contrato, bem como à redução de custos, que lhe terá de ser característica. Definindo os contratos inteligentes como autoexecutáveis, Szabo concretiza a sua ideia com um contrato inteligente entre um comprador e um vendedor de um automóvel. Com um contrato digital de compra e venda do automóvel a crédito como exemplo, pode constar no contrato inteligente um protocolo que assegure a proteção do credor em caso de falta de pagamento. Assim, quando o comprador “falha um pagamento, o contrato inteligente invoca o protocolo da posse do automóvel por falta de pagamento, devolvendo o controlo das chaves do automóvel ao credor”, quando tal for seguro de realizar. “Este tipo de protocolos pode ser muito mais barato e muito mais eficaz” que qualquer outro mecanismo atual à disposição de um credor, evitando um processo judicial, os custos associados, bem como o tempo que demorará entre a falta de pagamento e a restituição do automóvel, caso persista a falta de pagamento da(s) prestação(ões) devida(s). A solução de Szabo não viola a vontade das partes porque todos estão informados das consequências dos seus atos: o contrato tem cláusulas que não mudam e que são pré-negociadas entre as partes. Ao comprador é dado conhecimento antes da assinatura que a falta de pagamento dentro do prazo determina a sua imediata perda de controlo de acesso do carro, o que, no fundo, servirá como um incentivo muito forte para o cumprimento. Apesar disso, para o credor, tal conhecimento é uma forma muito clara de saber-se consciente de que, caso haja alguma falta de pagamento, o procedimento é imediato e automático, evitando todos os custos associados, em termos de horas de trabalho, expediente, ou outros, direta ou indiretamente, conexos com processos judiciais ou quaisquer outras formas previstas de reaver ou o bem ou o pagamento em falta – cfr. João Belo, smart contracts: possível solução para a relutância em entrar num contrato em ambiente online? pp. 16-18, revista científica sobre cyberlaw do centro de investigação jurídica do ciberespaço – cijic – da faculdade de direito da universidade de lisboa, edição nº V – março de 2018.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
63
um novo modelo de governo local, preenchendo um vazio de afirmação da população local perante o poder político nacional. As cidades inteligentes podem ser o motor de uma autonomia constitucionalmente consagrada, mas que ainda está por realizar na sua integralidade. As comunidades locais só assegurarão a sua verdadeira autonomia perante o poder central quando forem autossustentáveis, autonomia que não acontecerá se estiverem à espera de que seja o Estado a efetuar essa promoção, num caminho que terá de ser percorrido com a interligação permanente entre os poderes das cidades e a autoridade central do Estado. Ao contrário de outros países europeus, não obstante previstas na Constituição desde 1976 e na Lei-Quadro, Portugal ainda não implementou as Regiões Administrativas. Cumprindo o prazo que lhe foi determinado pela Lei 58/2018, foi entregue no Parlamento em 31 de julho de 2019 o relatório final da Comissão Independente para a Descentralização e que propõe soluções em matéria de regionalização. Como a Comissão refere, o centralismo é um problema nacional e importa reforçar o nível subnacional, louvando-se em geral o esforço nesse sentido levado o cabo no Relatório, realçando-se o longo caminho a percorrer com vista a uma repartição clara de atribuições e competências tanto vertical (entre diferentes níveis de administração) como horizontal (entre os serviços das regiões administrativas e os serviços desconcentrados da administração). O centralismo do Estado tem pelo menos três causas: – um modelo administrativista importado da revolução francesa (recorde-se que as Regiões Administrativistas foram implementadas em França apenas na década de 1980), fronteiras definidas há quase oito séculos e a reduzida dimensão do país. Quando se esperava que Regionalização fosse o tema forte do debate na corrente legislatura 2019-2023, ficou a saber-se que, afinal, a matéria da regionalização será novamente adiada para uma eventual futura legislatura. O impacto dessa posição política da maioria político-parlamentar coaduna-se com o pendor fortemente centralista que domina o país há séculos, com as consequências altamente nefastas decorrentes da falta de aplicação do princípio da subsidiariedade, da negação da diminuição de assimetrias e da injusta distribuição da riqueza nacional, em que o PIB per capita da capital Lisboa é muito superior ao do resto do país. III. OPÇÕES DE POLÍTICAS PROPOSTAS Não se podendo perder de vista que o princípio da afirmação do poder local passa pela regionalização, importa a participação pública na definição do modelo de regionalização a implementar aquele que está previsto na Constituição e na Lei-Quadro das Regiões Administrativas.
64
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Faz-se notar que, diferentemente da descentralização, em que o poder central transfere poderes do governo para as autarquias, as regiões vão assumir poderes atualmente cometidos ao governo, mas também competências próprias dos municípios. Atendendo a que uma cidade inteligente vai sendo construída até um ponto de autossustentabilidade, há que perguntar se, atingido esse patamar, haverá apetência para o executivo da cidade abdicar de poderes e competências pelos quais lutou, em favor de um órgão supramunicipal no qual não tem participação direta, ou se os autarcas preferem antes um modelo regional que cumpra com mais efetividade o princípio da subsidiariedade, a partir, por exemplo, do modelo das comunidades intermunicipais. Acresce que a concretização de uma verdadeira autonomia local tem evidentes reflexos no plano europeu, pois a União Europeia vem-se construindo cada vez mais em torno de uma Europa de Regiões. O Conselho da Europa aprovou em 1985 a Carta Europeia da Autonomia Local, vigente desde 1991 em Portugal e atualmente em vigor no conjunto dos 47 Estados Membros dessa organização. A regra geral do artigo 4º.3 da Carta Europeia da Autonomia Local prevê que “o exercício das responsabilidades públicas deve incumbir, de preferência, às autoridades mais próximas dos cidadãos”, um princípio da subsidiariedade entre nós consagrado no artigo 6º, nº 1, CRP. Nos termos da “Carta”, a existência de poder local dá-se quando ocorram cumulativamente os seguintes elementos7: – Órgãos eleitos pela população das comunidades locais com capacidade de voto, num território devidamente delimitado. – Atribuição aos órgãos eleitos por essas comunidades, de competências para tratar dos interesses das populações respetivas. – Dotação de funcionários próprios, recrutados pelos órgãos das respetivas coletividades locais, e qualificado para o desempenho dos trabalhos que lhe forem cometidos. – Dotação de meios financeiros adequados e garantidos por lei, sem submissão apenas da vontade governamental, para levar a cabo o bom desempenho das tarefas para que os órgãos estão criados. – Atuação dos órgãos sem estarem sujeitos à tutela central em questões de mérito e ligadas à vertente político-administrativa dessa atuação. O direito administrativo vem sendo atravessado por uma série de fenômenos que traduzem novas lógicas, que podem ser analisadas sobre três 7
Cfr. António Cândido de Oliveira e Catherine Maia, Poder Local: as experiências dos países europeus e o caso da Tunísia, in Questões Atuais de Direito Local, nº 12, Outubro/Dezembro 2016, p. 38.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
65
prismas, um movimento de globalização do mundo, um movimento de desestatização da sociedade e um movimento de descentralização do poder que, em conjunto, questionam fortemente as formas clássicas de poder. As novas tecnologias permitem que a informação circule a uma velocidade estonteante e as redes sociais converteram-se em canais de transmissão de opiniões e informações à margem dos sistemas de comunicação tradicionais. Um dos aspetos nucleares da economia moderna é a diminuição da assimetria da informação e essa necessidade estende-se também à relação entre os Estados e os seus cidadãos, obrigando-se aquele, pela via legislativa, a garantir uma democracia informativa, que assegure aos particulares o conhecimento e o acesso mais rápido aos direitos que lhes assistem8. A sociedade de conhecimento afeta o desenvolvimento do regime do direito administrativo9 que, mesmo do ponto de vista científico-doutrinal, recebe cada vez mais contributos de outras disciplinas, como a economia e a sociologia e de ramos do direito privado, pugnando-se por novas metodologias inovadoras para a Administração Pública, numa era em que reina o imperativo de “gerir melhor, gastar menos”10. Na compreensão dessas novas ideias, as administrações dos Estados europeus deram conta da necessidade de uma gestão de qualidade, na qual deveria assentar o seu pilar de atuação, entrando aí o reforço da proximidade da administração com os seus cidadãos. Daí que importe: Desenhar um modelo de governo local de acordo com o conceito das Social Cities, em cocriação com os seus cidadãos, em que, na eleição para a câmara municipal, a lista vencedora elegeria todos os vereadores (“the winner takes it all” como na canção dos Abba), deixando de haver a figura dos vereadores da oposição (que não possuem habitualmente pelouros, nas circunstâncias atuais, salvo em alguns casos em que a lista vencedora não tem a maioria dos vereadores eleitos e vai “recrutar” a oposição para ter maiorias decisórias), passando a oposição e o confronto de ideias a fazer-se no local próprio, que é a Assembleia Municipal, com competências reforçadas, que a poderão transformar num Parlamento da Cidade ou Parlamento Municipal. 8
9
10
Nesse sentido, Pilar Jiménez Tello, “Nuevas formas de control administrativo y proteccion de los consumidores e usuários”, Enrique Rivero Ysern/M. Dolores Calvo Sánchez, Nuevas formas de control de las administraciones públicas y su repercusión sobre consumidores y usuarios, Salamanca, Ratio Legis, 2013, p. 22. Falando-se mesmo da necessidade de um novo direito administrativo para o espaço europeu, cf. Tomás -Ramón Fernandéz Rodriguez, “Un nuevo Derecho para el mercado interior europeo”, Revista Espanola de Derecho Europeo, nº 22, 2007. Vide R. Rivero Ortega, Valentim Merino Estrada, “Gestionar mejor, gastar menos: una guía para la sostenibilidad municipal”, Cernci, Granada, 2011.
66
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Elaborar sobre o alargamento do âmbito de competências municipais, incluindo a gestão de serviços públicos atualmente pertencentes ao Estado, com acréscimo do número de vereadores a tempo inteiro, para dirigirem essa gestão urbana em matéria de energia, transportes, comunicações, urbanismo, ambiente e outras que se revelassem necessárias à prossecução dos seus fins, o que impõe que todos os vereadores pertençam no mesmo partido ou na coligação vencedora, para não ocorrer perda da necessária unidade na boa governação. Refletir sobre os poderes da Assembleia Municipal para criar impostos e, na relação fiscal com o Estado central, o município receber não só diretamente parte do IRS, e IRC cobrado a pessoas coletivas e singulares, parte do IMT e IMI, mas também parte do IVA que resultar de transações feitas e ISP (Imposto Sobre Combustíveis) em tudo o que respeite ao perímetro municipal em que se situe, sempre pressupondo uma neutralidade fiscal, de modo a que não haja aumento ou sobrecarga fiscal para a comunidade que a constitui e o país, sejam empresas, sejam particulares. Desenvolver a constituição alargada de sociedades mistas, com capital municipal e de privados. Alargar o associativismo municipal de que é exemplo o quadrilátero urbano entre Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, do qual se retira as inúmeras vantagens desse tipo associativo, controlado pelos municípios interessados, sem necessidade de autorização de uma qualquer região administrativa e estendendo cooperação para o desenvolvimento integrado e crescimento sustentado a autarquias espanholas, como sucede no caso do Eixo-Atlântico do Noroeste Peninsular. IV. RECOMENDAÇÕES Importa qualificar doutrinal e legislativamente a noção de cidade inteligente. Para aferição do que podem ser qualificadas como cidades inteligentes, podemos usar dois critérios, um referente ao conceito ou dimensão, outro que tem por base uma expressão numérica capaz de medir quantitivamente as dimensões pelas quais se reportarão a um quadro preestabelecido11. Num primeiro estágio, considerou-se que o pilar mais importante de uma cidade dessa natureza é o uso das TIC como ferramentas para melhorar sua sustentabilidade energética. Entre as definições que seguiram essa linha podem ser elencadas aquelas para quem smart será uma cidade em que um projeto está a ser implementado 11
Sobre tais critérios, vide Marciele Berger Bernardes, Francisco Pacheco de Andrade, Paulo Novais, Indicators for Smart Cities: Bibliometric and Systemic Search 569 ed.: Springer International Publishing, 2017, v 569. p. 100 e ss.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
67
com o desiderato principal de melhorar a qualidade de vida e a economia local, caminhando para uma baixa nas emissões de CO2 ou investimentos em eficiência energética e energias renováveis locais, juntamente com a redução do 12 consumo de energia fóssil e emissões de CO2 . Esse é também considerado o principal objetivo de uma cidade inteligente, de acordo com a iniciativa das Cidades e Comunidades Inteligentes da União Europeia (ICCI), em que se entende ela enquanto promoção da transformação das cidades “num lugar de progresso social avançado e regeneração ambiental, bem como centros de atração e impulsionadores do crescimento econômico baseado em uma abordagem holística integrada que leva em consideração todos os aspetos da sustentabilidade”13. As definições baseadas exclusivamente na melhoria da sustentabilidade energética da cidade vêm evoluindo para modelos mais complexos que também incluem áreas como o open government ou a prestação de serviços públicos14. Outros elementos foram sendo adicionados com base na ideia que a principal novidade apresentada pelas cidades inteligentes é usar as TIC, por um lado, para melhorar a eficácia dos programas e políticas e obter os resultados esperados e, por outro lado, conseguir uma implementação eficiente deles, através de uma relação adequada entre os meios utilizados e os resultados obtidos15. No mesmo sentido vai a definição do Parlamento Europeu, aglutinando os elementos anteriores, segundo os quais a ideia de cidade tem sua origem na criação e conexão de capital humano, capital social e TIC, a fim de alcançar um desenvolvimento econômico mais sustentável e melhor qualidade de vida16. 12
13
14
15
16
Na Espanha, essa definição consta di Mapa Tecnológico «Ciudades Inteligentes», Observatorio Tecnológico de la Energía, IDEA, 2011, pp. 3 e ss.http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Borrador_Smart_Cities_18_Abril_2012_b97f8b15.pdf, consultado em 8 de dezembro de 2018. Vide Comunicação da Comissão sobre Cidades e Comunidades Inteligentes – Associação Europeia para a Inovação, [C (2012) 4701 final], p. 3. Cfr. Diana Santiago Iglesias, “Ciudades Inteligentes: aproximacion a um fenómeno en auge, in Questões Atuais de Direito Local, nº 18, abril-junho de 2018, p. 87. Cfr. A. Caragliu, Ch Bo, Ch e P. Nijkamp, «Smart cities in Europe», 3rd Central European Conference in Regional Science, CERS, 2009, pp. 47 e ss, identificando alguns dos requisitos complementares que permitiriam identificar os pressupostos de uma cidade para ter o estatuto de inteligente: a) as infraestruturas de rede são usadas para melhorar a eficiência econômica e política e permitir o desenvolvimento social, cultural e urbano; b) colocar ênfase no desenvolvimento econômico da cidade e da sua orientação em negócios; c) tentar alcançar um crescimento urbano socialmente equitativo; d) destacar o papel do setor de alta tecnologia e criatividade no planeamento do crescimento urbano de longo prazo; e) focar o papel do capital social; uma cidade inteligente será aquela em que seus habitantes aprenderam a aprender, adaptar e inovar, podendo fazer uso de tecnologia e beneficiar-se dele; f) a importância estratégica é particularmente destacada de sustentabilidade social e ambiental. Cfr. Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, Directorate-General for internal policies (PE 507.480), 2014, p. 18.
68
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Será necessário levar a cabo um tratamento exaustivo dos principais indicadores de uma cidade inteligente, a fim de evitar o uso indevido desse termo por muitas cidades, com o mero intuito de tornar-se mais atraente do ponto de vista turístico ou industrial. Na implementação das cidades inteligentes haverá que agir com cuidado, de modo a não subestimar os possíveis efeitos negativos do desenvolvimento de novas tecnologias e das infraestruturas de rede necessárias para uma cidade ser inteligente. De igual maneira, na excessiva concentração em ser uma cidade inteligente, a vontade para alcançar esse interesse estratégico pode levar a negligenciar outras formas alternativas de um desenvolvimento urbano promissor, sendo de apontar que os gestores públicos devem considerar aquelas outras opções que não são orientadas exclusivamente para o crescimento do negócio. Baseado na definição de cidades inteligentes apresentada, decorrente da aplicação das TICs em diferentes áreas, é possível identificar uma série de indicadores para posterior medição quantitativa, como sejam o nível de inteligência de uma cidade, chamado “dimensões inteligentes”, onde não ocorrem critérios unânimes. Uma cidade inteligente será aquela cujas estratégias ou iniciativas afetem, pelo menos, uma das seguintes áreas: governo, mobilidade, meio ambiente, estilo de vida, cidadãos e economia17. O desenvolvimento das cidades inteligentes está, todavia, muito dependente do nível de inteligência das electrical networks (interconexão de componentes elétricos ou um modelo de tal interconexão) para assegurar o fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores, mas o mais importante é facilitar a coordenação entre a gestão da cidade, os operadores das várias infraestruturas e os organismos responsáveis pela segurança pública, saúde18, justiça e economia. A estratégia da Europa 2020 está intimamente ligada com as iniciativas Smart Cities, influenciando diretamente os objetivos da Europa 2020 através do melhoramento do desempenho específico do alvo de cada cidade e, por consequência, do país19. 17
18
19
Cfr. Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, Directorate-General for internal policies (PE 507.480), 2014, p. 28 e Cfr. Diana Santiago Iglesias, “Ciudades Inteligentes: aproximacion a um fenómeno en auge, in Questões Atuais de Direito Local, nº 18, abril-junho de 2018, pp. 89 a 96. M Eremia – 2017 e outros, The Smart City Concept in the 21st Century – ScienceDirect, in https://ac.els-cdn.com/S1877705817309402/1-s2.0-S1877705817309402-main. pdf?_tid=b3248711-0a02-4b8b-bd4b-2bae8658517b&acdnat=1544362888_7b5d08633d3c8e9507a3195047303ec7, consultado em 9 de dezembro de 2018. European Parliament. Mapping Smart Cities in the EU. European Union, Janeiro 2014, p. 61, disponível na Internet em http://www.europarl.europa.eu/studies, consultada em 26 de novembro de 2018.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
69
Convergindo esses fatores, o desenvolvimento das cidades deve ter em consideração qual o paradigma de inteligência que melhor se lhe adequa. De uma forma sucinta, há quem veja a existência de três modelos de cidades: as Petrópolis (cidades com forte densidade industrial), as Cyburbias (cidades que adotaram a tecnologia com base em sensores) e, mais recentemente, as Social Cities (apostam em ecossistemas de desenvolvimento por via de cocriação com os seus cidadãos)20. Boa parte das cidades inteligentes instalou sensores para medir praticamente tudo numa cidade. No entanto, Kit Malthouse, enquanto vice-mayor de Londres, assumiu: “90% dos dados gerados, ninguém sabe o que fazer com eles!”. O paradigma certo para as cidades portuguesas reside na adequação de tecnologias sociais, envolvendo as populações em projetos de cocriação. Ao município cabe o papel de catalisador da economia cívica, modelo consensualmente aceito como o mais inteligente para o desenvolvimento das regiões. Em matéria de cidades inteligentes, começar tarde não é sinónimo de começar atrasado. Muitas grandes metrópoles estão atualmente presas aos investimentos bilionários feitos no passado que as eclipsaram do lote de finalistas do ranking das regiões mais inteligentes do mundo. Afirmando que a matriz de uma cidade inteligente é a sua autossustentabilidade, densificando o conceito para ser qualificada como tal, tem de reunir cumulativamente os seguintes requisitos e capacidades, de per si, ou em associação com cidades inteligentes adjacentes ou outros municípios – autonomia na construção e gestão de todos os recursos energéticos no território que ocupa; – autonomia na construção, gestão e distribuição de todos os recursos de água no território que ocupa; – autonomia na construção e gestão de toda a rede de transporte e vias de comunicação da cidade e do seu município e gestão de tráfego. – autonomia na administração de todos os serviços públicos, locais, incluindo ao que atualmente sobre gestão do Estado, tais como direções regionais (nas áreas da saúde, segurança social, segurança rodoviária e transportes, proteção civil, agricultura, empresariais, ambiente, etc…) – autonomia na gestão do equipamento e pessoal afeto à Justiça e aos Tribunais (salvo os Juízes e Procuradores); – capacidade de obter receitas dos seus cidadãos ou munícipes ou no seu território, em IRS, IMT, IMI, IVA, IRC, taxas e rendimentos provenientes de bens próprios, suficientes para o pagamento das despesas municipais. 20
Cfr. Jorge Saraiva, engage citizen smart citizens: o modelo certo para portugal!, in http://www.smart-cities. pt/pt/noticia/smart-citizens-o-modelo-certo-para-portugal7896, consultado em 24 de novembro de 2018.
70
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
– capacidade de fiscalizar e controlar as emissões poluentes; – ter no seu espaço territorial uma rede de ensino, dotada de um mínimo de 3 estabelecimentos de ensino secundário públicos e uma universidade pública, com escolas ou faculdades nas áreas do direito, da saúde, da medicina, engenharia, ciências, artes e letras. – autonomia na gestão de estabelecimentos do ensino escolar obrigatório. – serviços de interação com os munícipes totalmente automatizados. Para isso é necessário que os componentes da infraestrutura da cidade fiquem cada vez mais interconectados, sendo que a tecnologia blockchain poderá oferecer soluções para a melhoria desse funcionamento, através da sua capacidade para fornecer uma plataforma de informações transparente, neutra, não hierárquica, acessível, não manipulável e segura. REFERÊNCIAS BELO, João, smart contracts: possível solução para a relutância em entrar num contrato em ambiente online? revista científica sobre cyberlaw do centro de investigação jurídica do ciberespaço – cijic – da faculdade de direito da universidade de lisboa, edição n.º V – março de 2018. BERNARDES, Marciele Berger, ANDRADE, Francisco Pacheco de, NOVAIS, Paulo, Indicators for Smart Cities: Bibliometric and Systemic Search 569 ed.: Springer International Publishing, 2017, v. 569. CH, A. Caragliu, Ch Bo, e NIJKAMP, P., «Smart cities in Europe», 3rd Central European Conference in Regional Science, CERS, 2009. EREMIA, M. e outros, The Smart City Concept in the 21st Century – ScienceDirect, 2017, in Estorninho, Maria João, Requiem pelo Contrato Administrativo, Almedina, Coimbra, 2003 (reimpressão), p. 119. GEFFRAY, Edouard and Auby, Jean-Bernard, “The political and legal consequences of smart cities”, Field Actions Science Reports [Online], Special Issue 16 | 2017, Online since 01 June 2017, connection on 12 October 2018, URL: http://journals.openedition.org/factsreports/4281. IGLESIAS, Diana Santiago, “Ciudades Inteligentes: aproximacion a um fenómeno en auge”, in Questões Atuais de Direito Local, nº 18, abril-junho de 2018. LUU, Loi e outros, Making smart contracts smarter. In: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, ACM, 2016. MENECEUR, Yannick, Les systèmes judiciaires européens à l’épreuve du développement de l’intelligence artificielle, in Revue pratique de la prospective et de l’innovation - n° 2, outubro 2018. OLIVEIRA, António Cândido de e MAIA, Catherine, Poder Local: as experiências dos países europeus e o caso da Tunísia, in Questões Atuais de Direito Local, nº 12, Outubro/Dezembro 2016. ORTEGA, R. Rivero, ESTRADA, Valentim Merino, “Gestionar mejor, gastar menos: una guía para la sostenibilidad municipal”, Cernci, Granada, 2011. TELLO, Pilar Jiménez, “Nuevas formas de control administrativo y proteccion de los consumidores e usuários”, Salamanca, Ratio Legis, 2013. SZABO, Nick “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”, First Monday Peerreviewed Journal of the Internet, Vol. 2, Number 9 (September 1997). RECURSOS ELETRÓNICOS AUBY, Jean Bernard, legal perpective, smart cities, data and digital law, in Edouard Geffray and Jean-Bernard Auby, « The political and legal consequences of smart cities, Field Actions Science Reports [Online], Special
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
71
Issue 16 | 2017, Online since 01 June 2017, connection on 12 October 2018. URL: http://journals.openedition. org/factsreports/4281. CAILLAU, Robert, WorldWideWeb: a Proposal for a Hyper Text Project, disponível in http://www.w3.org/Proposal. CASEY, Anthony J. e NIBLET, Anthony “Self-Driving Contracts”, Working Paper, 1 de Março de 2017 (última revisão em 4 de Fevereiro de 2018), disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2927459 ou http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2927459. GROTTES, Gaëlle Marraud des, Justice prédictive: un livre blanc et une charte éthique pour encadrer l’usage des algorithmes, novembro de 2018, in https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/donnees/17857/justice-predictive-un-livre-blanc-et-une-charte-ethique-pour-encadrer-l-usage-des-algorithmes. JUNESTRAND, Stefan, A blockchain-based governance model for public services in smart cities, outubro 2018, in https://www.openaccessgovernment.org/a-blockchain-based-governance-model/52928. KOSBA, A. e outros, Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts, in https:// eprint.iacr.org/2015/675.pdf. SARAIVA, Jorge, Engage citizen smart citizens: o modelo certo para portugal!, in http://www.smart-cities.pt/pt/ noticia/smart-citizens-o-modelo-certo-para-portugal7896. SAUVÉ, Jean-Marc, Le juge administratif et l’intelligence artificielle, Conférence des présidents des juridictions administratives, abril 2018, in http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-juge-administratif-et-l-intelligence-artificielle, consultado em 4 de dezembro de 2018. SZABO, Nick, “The idea of Smart Contracts”, 1997, in http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html. World Urbanization Prospects, The 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, disponível para consulta em http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf.
Capítulo 6 Uma Reflexão sobre a Importância de Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação para Iniciativas de Cidades Inteligentes Marcos Cesar Weiss Gilberto Perez Lilian Regina Gabriel Moreira Pires
INTRODUÇÃO Assim como no seguimento a inúmeros fenômenos sociais ocorridos na Europa e nos Estados Unidos em tempos nem tão remotos, o Brasil vive neste início de século XXI o desembarque daquilo que nada mais deveria ser do que a evolução natural da cidade em tempos de revolução digital. A (re)criação das cidades sob a égide, ou sob o paradigma, do conceito ou definição de “cidade inteligente” tem motivado organizações e pessoas a buscarem soluções para os problemas que afetam as cidades de forma geral, sejam eles aparentes e vividos no dia a dia urbano – deficiências no sistema de transportes e mobilidade, no atendimento básico à saúde ou no provimento das condições mínimas para a efetivação do processo educacional –, ou mesmo naquilo que nem tão visível é aos olhos mais atentos – atenção aos socialmente menos favorecidos ou idosos, ao meio ambiente ou ao gerenciamento e rastreamento dos resíduos e rejeitos derivados da inequívoca e festejada inventividade humana. De fato, a espécie humana é fantástica, ela cria problemas com a mesma rapidez com que respira e depois se debruça por anos e anos para tentar encontrar alguma coisa, alguma solução, que possa resolver aqueles problemas que criara. Ao longo do tempo a humanidade, e aquilo que convencionamos chamar de “sociedade”, vem sobrevivendo e se recriando por meio dessa dinâmica. Criar dificuldades para oferecer facilidades tem sido uma prática tão comum e constatável na sociedade histórica – aquela sociedade marcada pelo tempo que se pode medir – que não se pode afirmar que, agora, nossas cidades – núcleos da agregação da humanidade e onde as pessoas realizam suas aspirações – se vejam livres desse tipo de prática. Afinal, vive-se a era da transformação
74
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
digital e quem não estiver “a bordo” desse movimento, mesmo que dele não necessite, estará, desafortunadamente, fora da própria expectativa de prosperidade, por menos que se possa ter de conhecimento sobre o que é transformação digital ou sobre o que é prosperidade. A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) realiza esta constatação: A área digital tem se mostrado como um novo centro vital das modernas economias e os países líderes têm se posicionado de forma estratégica em relação ao tema. No cenário internacional, diversos países buscam alavancar suas principais competências e vantagens, ao mesmo tempo preenchendo lacunas importantes para maximizar os benefícios da economia digital. A depender do dinamismo econômico e das principais forças produtivas, alguns países procuram ser líderes em setores específicos e promissores, como a robótica, a inteligência artificial, a manufatura de alta precisão ou as inovações financeiras digitais, enquanto outros gerenciam seus marcos regulatórios de forma a aproveitar o potencial das tecnologias digitais. Entre as prioridades das iniciativas de digitalização pelo mundo, estão a busca de competitividade em negócios digitais, digitalização de serviços públicos, criação de empregos qualificados na nova economia e políticas para uma educação melhor e mais avançada. Com o Brasil não será diferente. As vantagens brasileiras deverão ser aproveitadas para superar desafios e avançar na digitalização da economia. Embora o Brasil possua fortes e significativas vantagens competitivas em determinadas áreas – agronegócio desenvolvido, setores de indústria e serviços sólidos, diversidade cultural, economia grande e diversificada, mercado consumidor atraente – percebe-se que o País ainda tem desafios importantes a enfrentar (MCTIC, 2018, p. 6).
O fato é que em terra brasilis se busca realizar “uma revolução” a partir da adoção e apropriação daquilo que é tido em outros lugares do planeta como resultado de um processo evolutivo. Essa pretensa revolução vai se desenvolvendo e produzindo discursos e ações que objetivam conformar uma dinâmica de inovação urbana ou de gestão da “cidade empresa” sem, entretanto, considerar minimamente os aspectos e condições das infraestruturas e capacidades operacionais das cidades e tão somente vislumbrando o estado da arte em termos de tecnologia da informação e comunicação (TIC). A inovação no âmbito do poder público local, então, deve vislumbrar a resolução das questões mais prementes da gestão e da população, e não apenas focalizada na instalação de dispositivo tecnológicos de última geração. Deve, antes de mais nada, focalizar o desenvolvimento urbano e qualidade de vida; a liderança em ambiente de negócios; a inclusão social e digital; o governo eletrônico; a eficiência em governança; o incentivo às indústrias criativas e de alta tecnologia; e o capital humano para o desenvolvimento urbano sustentável.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
75
No contexto dos desafios que envolvem as cidades em todo o globo, e particularmente no Brasil, o conceito de cidade inteligente desponta como uma proposição para que alguns dos problemas que afetam a dinâmica urbana possam ser equacionados a partir da implementação razoável e racional de TIC. O gestor público em nível local deve ter por objetivo implementar soluções tecnológicas eficazes para o equacionamento das questões locais e que, de fato, tragam valor à população, particularmente em áreas como serviços de atendimento, gestão da saúde e da educação, mobilidade, segurança e zeladoria urbana. A visão é justamente ter a tecnologia necessária, integrada e disponível para que o poder público possa realizar sua missão com eficiência e seja percebida pela população como algo que facilita e melhora a vida. A visão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostra que: O conceito de Smart City parte da perspectiva de que a tecnologia é fator indispensável para que as cidades acompanhem o ritmo de transformação da sociedade e atendam às expectativas e necessidades da população. Além disso, esse conceito tem se mostrado fundamental no processo de tornar os centros urbanos mais eficientes e de oferecer boa qualidade de vida e gestão dos recursos por meio de processos cada vez mais participativos. No entanto, pensar em Cidades Inteligentes sem levar em conta o aspecto urbano, social e ambiental dos centros urbanos leva à perda do fim último do desenvolvimento das cidades: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, uma cidade, para ser considerada inteligente deve necessariamente incorporar aspectos relativos à melhoria da governança, do planejamento, da infraestrutura e de como isso se reflete no capital humano e social. Apenas quando tomam esses elementos de forma conjunta, cidades se tornam efetivamente inteligentes e conseguem promover desenvolvimento sustentável e integrado que fazem parte do ciclo virtuoso mencionado anteriormente (BOUSKELA et al., 2016, p. 16).
A criação de cidades inteligentes não é um evento, mas o resultado de um processo de diagnóstico, planejamento e ação constante, em que se busque a harmonização entre o mundo físico e o mundo virtual e que contemple todos os subsistemas do sistema urbano (NAM; PARDO, 2011). Não se trata da simples introdução de tecnologias de última geração em cada sistema urbano como que uma garantia para a existência de uma cidade inteligente (KANTER; LITOW, 2009), até porque as cidades mais equipadas com tecnologias não são necessariamente melhores cidades e o número de “iniciativas inteligentes” lançadas por um município não é um indicador do desempenho da cidade (NEIROTTI, 2014). A cidade inteligente não deve ser um depósito de sensores ou uma gigantesca biblioteca de aplicativos para dispositivos móveis, assim como não deve promover a existência de um centro de comando e controle como sinônimo de cidade inteligente ou, ainda, permitir que as divisões ou divergências político-partidárias se façam refletir no portal de serviços onde
76
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
cada secretaria tem seu “site”, seu aplicativo ou, em casos extremos, deixa que projetos sejam abandonados por conta de troca de governo. A partir dessas reflexões, reforça-se o conceito que mostra a cidade inteligente como “aquela que realiza a implementação de TIC de forma a transformar positivamente os padrões de organização, aprendizagem, gerenciamento da infraestrutura e prestação de serviços públicos, promovendo práticas de gestão urbana mais eficientes em benefício dos atores sociais, resguardadas suas vocações históricas e características culturais” (WEISS, 2016). No contexto das cidades inteligentes, as TIC são essenciais, mas não devem ser encaradas como fim e sim como meio, facilitando o equilíbrio na relação demanda-fornecimento de infraestruturas e serviços públicos. De outra forma, envereda-se para o determinismo tecnológico em que os avanços e os desenvolvimentos de novas tecnologias determinam e influenciam a dinâmica social ao ponto de serem consideradas causa e não efeito (FEENBERG, 2010). PLANEJAR PARA AGIR Por certo, é preciso ter os olhos voltados para o global, mas é vital pensar as cidades inteligentes a partir das realidades e necessidades locais. Cada cidade tem suas características particulares, embora possam ser encontradas similaridades entre elas. Nesse sentido, aquilo que vale para uma cidade em termos de tecnologias pode não valer, ou ser útil para os cidadãos de outra cidade. A exceção, eventualmente, fica por conta daquelas tecnologias mais elementares, sistemas de informações fundamentalmente, que visem à melhoria da prestação dos serviços em áreas como saúde, educação, segurança, zeladoria, segurança e relacionamento com os cidadãos e organizações. O processo transformacional deve considerar alguns aspectos importantes e que se conformam com ações a serem realizadas pelo poder público municipal no momento que decidir ingressar na trilha das cidades inteligentes: 1. Definir a visão de cidade inteligente. É fundamental construir a visão da cidade inteligente que se pretende ter não apenas como um exercício teórico, mas como um propósito a ser dia a dia reforçado. 2. Criar uma coalizão com a sociedade, comunicando a visão da cidade inteligente e os resultados esperados. 3. Capacitar os agentes públicos em todos os níveis funcionais e deles obter comprometimento para as iniciativas de transformação. 4. Avaliar criteriosamente os processos administrativos. Processos ruins podem ficar piores e mais caros com tecnologias que os automatizem da forma como são.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
77
5. Elaborar um Plano Diretor de TIC alinhado com as demandas da sociedade e com os objetivos da administração, partindo de um diagnóstico profundo, consistente, embasado e isento sobre o verdadeiro estado das tecnologias utilizadas no momento da elaboração do plano. 6. Começar pelo começo. O uso indiscriminado de sensores em detrimento de soluções mais básicas em gestão da zeladoria pública ou da educação, por exemplo, pode não representar eficiência da administração e, consequentemente, não representar valor para a sociedade. 7. Fazer mais com menos e não pouco com muito. Alto valor não significa, necessariamente, alto custo. 8. Incentivar a colaboração qualificada com a academia, iniciativa privada e cidadãos. 9. Promover, sempre que possível, a conformação de instrumentos legais e políticas públicas que ultrapassem o caráter temporal de governos. Particularmente sobre a elaboração de um Plano Diretor de TIC, a Cartilha de Cidades1 traz uma importante contribuição: A utilização de diversas soluções desconexas pode levar a digitalização da cidade, mas uma cidade que não se preocupa em tirar o máximo resultado através da livre cooperação entre as aplicações não pode ser elevada ao patamar de cidade inteligente. Em suma, a digitalização é resultado da aplicação da tecnologia, mas a inteligência está em como utilizar a tecnologia através de um planejamento integrado. Assim, o primeiro passo para evitar os silos digitais e fomentar a interoperabilidade é a definição e estruturação de um Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI). O PDTCI deve elencar todos os desafios a serem endereçados para que, a partir de uma visão ampla da demanda, sejam definidas quais soluções serão adotadas. A criação e adoção do PDTCI deve objetivar: • Evitar desperdício financeiro com aquisições de tecnologias redundantes. • Compartilhar a infraestrutura de dispositivos, telecomunicações e informática entre diversas aplicações. • Seguir padrões consolidados. • Adotar soluções abertas e customizáveis. O PDTCI parte das premissas do Plano Diretor da Cidade, que abarca questões mais amplas e estratégicas da cidade, e considerando restrições, prioridades e 1
A Cartilha de Cidades é um esforço de promoção do uso de tecnologias baseadas em IoT (Internet of Things / Internet das Coisas) antes de ser, de fato, um documento orientativo para gestores públicos realizarem seus Planos Diretores de TIC. Não obstante a limitação de abrangência e quaisquer outras críticas, o documento faz o alerta importante sobre a necessidade de estruturação de um plano capaz de orientar a adoção de implementação de tecnologias no âmbito das cidades.
78
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
premissas deve ser a base para a criação dos planos táticos que irão efetivamente resultar na implantação das soluções de tecnologia (BNDES, 2018, pp. 48-49).
Um Plano Diretor de TIC é um instrumento que tem por objetivo prover uma visão em alto nível dos direcionadores estratégicos de TIC de forma alinhada aos objetivos estratégicos da própria administração. Ademais, deve orientar as ações para a adoção, implementação e/ou evolução das soluções de TIC, incluindo os fundamentos e as proposições arquiteturais e de gestão tecnológicas que deverão ser utilizadas pela cidade. Sua elaboração e difusão deve auxiliar o poder público na tomada de decisão acerca dos requisitos para seu portfólio de projetos de TIC, que melhor atendam à visão da cidade inteligente que é tida como consenso entre as partes interessadas. Para que o Plano Diretor de TIC tenha a robustez necessária, é fundamental a realização de verificação de amplo espectro no que se refere à existência, prontidão, disponibilização e utilização de TIC no âmbito do poder público local, incluindo sistemas de informações utilizados, contemplando, mas não se limitando, aos seguintes domínios: a) Infraestrutura e Gestão de TI, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Rede de Comunicação de Dados, Voz e Imagens; Rede Local de Computadores; Hospedagem e Computação em Nuvem; Arquitetura Empresarial e Tecnológica; Segurança e Proteção de Dados; e Governança e Gerenciamento de Serviços de TI. b) Planejamento e Governança, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Planejamento Plurianual e Estratégico; Conformidade Regulatória e Legal; Gestão de Riscos; Finanças Públicas; Convênios e Consórcios; e Informações para Suporte Decisório. c) Administração de Recursos, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Gestão de Ativos; Gestão de Suprimentos; Gestão de Recursos Humanos; Gestão das Compras Públicas; Gerenciamento de Projetos; e Informações para Suporte Gerencial. d) Serviços Eletrônicos aos Cidadãos e Empresas, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Acesso a Serviços pela Internet; Diário Oficial, Legislação e Acesso a Documentos e Formulários; Certidões Negativas; Permissões e Alvarás; Transações Tributárias e Taxas; e Disputas, Recursos e Acordos. e) Comunicação e Relacionamento com Cidadãos e Empresas, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Informações e Interação com Cidadãos; Informações e Interação com Empresas; Informações e Interação com Turistas; Informações e Interação com outras Cidades; Colaboração e Rede Social; e Ouvidoria.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
79
f) Gerenciamento de Serviços Básicos à Comunidade, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Gestão da Saúde; Gestão da Educação; Gestão da Segurança; Gestão de Resíduos e Rejeitos; Gestão da Mobilidade; e Zeladoria Pública. g) Gerenciamento de Serviços de Desenvolvimento Socioeconômico, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Gestão dos Serviços e Ações Sociais; Moradia e Habitação; Gestão do Turismo; Gestão da Cultura; Gestão do Esporte e Lazer; e Trabalho e Renda. h) Gerenciamento da Infraestrutura Urbana, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Transporte e Tráfego; Energia e Iluminação Pública; Água e Saneamento; Meio Ambiente; Edifícios Públicos; e Espaços Públicos. i) Gerenciamento da Dinâmica Urbana, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Centro de Comando e Controle; Integrações Extra-agência; Sistema de Georreferenciamento; Sistemas de Monitores e Sensores; Internet das Coisas; e Analítico e Grandes Volumes de Dados. j) Suporte à Inovação e Empreendedorismo, contemplando tecnologias e sistemas para as dimensões Acesso Público à Internet de Alta Velocidade; Capacitação pela Internet; Provimento de Serviços Internet; Desenvolvimento de Soluções para a Cidade; Comunidades Virtuais de P&D; e Abertura de Dados na Internet. Esses domínios, se devida e adequadamente avaliados, podem sinalizar aos gestores públicos aspectos de necessárias intervenções, como, por exemplo, integrações entre sistemas ou mesmo troca automatizada de dados entre eles; funcionalidades simples como um agendamento de serviço ou de consulta médica entre outras possibilidades geram valor aos cidadãos e organizações enquanto fortalecem a eficiência dos serviços públicos. As questões até aqui trazidas à reflexão têm também seu fortalecimento e amparo no arcabouço jurídico brasileiro. Silva (2000) lembra que o planejamento, em geral, é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido dos objetivos previamente estabelecidos e, nessa direção, um modo de alcançar objetivos e resultados. A própria Constituição de 19882, em seu artigo 174, fortalece a 2
Na Constituição Federal: art. 21, inciso IX, define a competência da União para elaborar e executar planos nacionais, regionais de ordenação do território, de desenvolvimento econômico e social; inciso XX do mesmo dispositivo – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano.. ; art. 25, § 3º, estabelece que – os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões...para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum; art. 30 estatui que compete ao município promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo ..; art. 174 estatui instrumentos de atuação no domínio econômico, o § 1º
80
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
importância dessa atividade ao ponto de declarar ser determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (BRASIL, 1988)3. O texto constitucional também apresentou a Política Urbana e estabeleceu que que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes, sendo que, para sua implementação, a competência é municipal. Também estabeleceu que o Plano Diretor da Cidade é um instrumento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e que a função social da propriedade estará sendo cumprida quando atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade. O Estatuto das Cidades4 preconiza que o Plano Diretor da Cidade é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana; é o instrumento de planificação urbana mais importante do direito, pois ele determinará as exigências de ordenação da cidade, tendo por finalidade assegurar a qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento das atividades econômicas dos cidadãos que habitam a urbe (PIRES, 2007). Ainda o mesmo Estatuto, em seu artigo 2º e inciso II, declara que “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. Isso vem reforçado no artigo 40, § 4º, inciso I, o qual determina que no processo de elaboração do Plano Diretor a participação social é obrigatória, com a promoção de audiências públicas e debates com a participação popular e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Nesse sentido, o Plano Diretor de TIC deve estar conectado ao Plano Diretor da Cidade e, além da verificação dos domínios para sua existência, já aqui
3
4
determina que a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento, do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento; § 1º, do artigo 182 determina que o instrumento básico para a política de desenvolvimento e expansão urbana é o plano diretor, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Segundo Figueiredo (2002), à luz do direito, planos podem seguir a seguinte tipologia: a) Planos Indicativos são aqueles em que o governo apenas assinala em alguma direção, sem qualquer compromisso, sem pretender o engajamento da iniciativa privada; b) Planos Incitativos são aqueles em que o Governo não somente sinaliza, mas pretendo também o engajamento da iniciativa privada para lograr seus fins. Nesses planos há não apenas a indicação como também, e, muitas vezes, promessas com várias medidas, quer por meio de incentivos, ou por qualquer outra forma para que a iniciativa privada colabore. Nessas hipóteses, contam os administrados que aos planos aderem com a confiança, a boa-fé e a lealdade da administração. Portanto, se houver modificações, certamente, em casos concretos existiram prejuízos; c) Planos Imperativos falam por si próprios, ou seja, a própria palavra os define. Imperativo é o que deve ser observado. O devido processo legal e a responsabilidade do estado por dano decorrente do planejamento. Lei Federal nº 10.257, de 10 de outubro de 2001.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
81
elencados, deve prestigiar a participação social, na medida em que a inovação e tecnologia vislumbram a resolução de questões ligadas à gestão, à inclusão da comunidade no processo decisório e ao desenvolvimento sustentável. CONSIDERAÇÕES FINAIS Os desafios interpostos às cidades e, por consequência, aos líderes municipais indicam que a colaboração do poder público com diversos atores – como a academia, a iniciativa privada e as organizações não governamentais – pode ser útil para que as necessidades sejam avaliadas e as melhores decisões sejam tomadas, levando em conta os sistemas socioeconômicos em que se baseiam e as interações regionais das quais fazem parte. A criação de uma cidade inteligente é resultado de um processo que passa pelo entendimento da realidade de cada ecossistema, suas necessidades e demandas; pelo mapeamento das TIC, em suas características de disponibilização e prontidão para os empregos aos quais se destinam; pela verificação das condicionantes que possam determinar ou não a aplicação dessas tecnologias, em que escala e com quais resultados socioeconômicos esperados; pela constante formação e informação dos agentes públicos e da sociedade. Sendo cada cidade um sistema único e particular, as aplicações de TIC também devem ser particulares e únicas, em consonância com as necessidades e perspectivas de desenvolvimento e atendimento às necessidades da sociedade local. Fica então evidente que, nas cidades inteligentes, as tecnologias devem ser empregadas de forma inovadora e inclusiva para informar, engajar e empoderar a sociedade. O mero emprego de tecnologias de última geração não garante a elevação de uma cidade ao patamar de cidade inteligente: tecnologias emergentes não devem ser adotadas em detrimento de tecnologias mais aplicáveis à gestão da cidade como um todo e que tragam mais valor aos cidadãos e organizações. REFERÊNCIAS BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cartilha das Cidades, 2018. Disponível em: https://bit.ly/2wQL3ul. Acesso em: 20 nov. 2019. BOUSKELA, M.; CASSEB, M.; BASSI, S.; DE LUCA, C.; FACCHINA, M. Caminho para as smart cities: da gestão tradicional para a cidade inteligente. Brasília: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 2016. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. FEENBERG, A. Racionalização Subversiva: tecnologia, poder e democracia. In: NEDER, R.T. (org.). A teoria crítica de Andrew Feenberg: racionalização democrática, poder e tecnologia. Brasília: Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina / CDS / UnB / Capes, 2010. cap. 2. p. 69-95. FIGUEIREDO, L. V. O devido processo legal e a responsabilidade do Estado por dano decorrente do planejamento. Revista Diálogo Jurídico. Bahia, n. 13, 2002.
82
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
KANTER, R. M.; LITOW, S. S. Informed and interconnected: a manifesto for smarter cities. Harvard Business School General Management Unit, Working Paper, 9-141, p. 1-27, 2009. Disponível em: http://goo.gl/9MLJOu. Acesso em: 14 ago. 2019. MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), 2018. Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ estrategiadigital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2019. NAM, T.; PARDO, T. A. Smart city as urban innovation: focusing on management, policy and context. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORY AND PRACTICE OF ELECTRONIC GOVERNANCE (ICEGOV2011), 5th, 2011, Tallin. Anais eletrônicos... New York: ACM, 2011. Disponível em: https://www.ctg. albany.edu/media/pubs/pdfs/icegov_2011_smartcity.pdf. Acesso em: 20 nov. 2018. NEIROTTI, P. et al. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, v. 38, p. 25-36, 2014. PIRES, L. R. G. M. Função social da propriedade urbana e o plano diretor. São Paulo: Editora Forum, 2007. SILVA, J. A. da. Direito urbanístico brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. WEISS, M. C. CIDADES INTELIGENTES: proposição de um modelo avaliativo de prontidão das tecnologias das informação e comunicação aplicáveis à gestão das cidades. 2016. 289 p. Tese (Doutorado em Administração) – Centro Universitário da FEI, São Paulo.
Capítulo 7 Transparência Administrativa Material Instrumento de Combate à Corrupção Pública no Contexto das Cidades Inteligentes Ana Flávia Messa
INTRODUÇÃO A realidade social brasileira, marcada por escândalos relacionados à fraude e ao desvio de recursos públicos, com o desvirtuamento da Administração Pública e afronta à ordem jurídica1, provocando uma subversão dos valores caracterizada por condutas inquinadas pela deslealdade, desonestidade, má-fé e desrespeito aos princípios da Administração Pública, para a obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem em flagrante prejuízo ao erário2, vive uma situação na qual o gestor público é levado a agir de modo diverso dos padrões normativos e éticos do sistema, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa3. Os efeitos dessa situação permeiam todas as esferas da atividade humana, moldando as relações sociais, comprometendo a capacidade da Administração Pública no aperfeiçoamento do bem comum e da boa convivência social, alimentando a desigualdade e injustiça, e desencorajando investimentos e apoio externos4. 1
2
3
4
PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. São Paulo: Atlas, 1999, p. 39; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1129668 – RS. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão julgador: Decisão Monocrática. Data do julgamento: 29/08/2013. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº 13520/DF. Relator: Ministra Laurita Vaz. Órgão julgador: Terceira Seção. DJe 02/09/2013. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (org.). Dicionário de Política. Brasília: Editora UNB, 2009. Discurso de Kofi Annan, ex-Secretário Geral das Nações Unidas sobre adoção da Convenção das Nações Unidas contra corrupção; GHIZZO, Affonso Neto. Corrupção, estado democrático de direito e educação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012; JIMÉNEZ, Fernando; CARBONA, Vicene. Esto funciona así. Anatomía de la corrupción en España, Dossier Corrupción en España, Letras Libres, Madrid, v. 125, p. 8-19, feb. 2012; JIMÉNEZ SANCHEZ, Fernando. La trampa política: la corrupción com problema de acción colectiva. In: Gobernabilidad, ciudadanía y democracia participativa: análisis comparado España-México. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2014.
84
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A jurista Kimberly Ann Elliott expõe que a corrupção é uma das mais dramáticas mazelas que assolam o mundo globalizado, já que enfraquece a legitimidade política, provoca desperdício de recursos, afeta o comércio internacional e o fluxo dos acontecimentos. A afirmativa de Elliott faz referência ao problema da má gestão pública derivada da corrupção, que é constante razão de atraso, miséria e dos incontáveis escândalos envolvendo uso indevido das atribuições públicas para obtenção de benefícios privados. Revelada por práticas criminalizadas em vários Estados, é uma patologia que prejudica o governo honesto, distorce as políticas públicas, leva à má alocação de recursos e prejudica o desenvolvimento do setor privado. Nesse contexto da corrupção no cenário brasileiro instalada na gestão pública de forma sistêmica6 em que o pagamento de propina para a realização das atividades administrativas passou a ser o ingrediente de funcionamento das entidades públicas e privadas, fazendo interesses especiais prevalecerem em detrimento à valorização do bem comum no convívio social, em flagrante desrespeito ao dever de boa administração e na preservação de valores éticos, a infraestrutura do combate da corrupção é vista como essencial para o desenvolvimento e competitividade das nações. As aplicações proporcionadas por essa infraestrutura trazem benefícios à vida cotidiana, por meio da mudança de hábitos e processos de indivíduos, empresas e governos, com reflexos na produtividade e competitividade do país. É importante destacar que essa infraestrutura de combate da corrupção deve ser vista como um compromisso permanente coletivo, sem prestar a saciar anseios momentâneos que contribuem para o próprio incremento do mal a ser eliminado e/ou reduzido que gera a combinação de elementos repressivos e preventivos fundamentada num sistema normativo amparado pela Constituição Federal, inseridos numa ação coletiva não somente de instituições oficiais, mas também da sociedade brasileira. A centralidade recente da temática com um problema de ação coletiva no Brasil é um desafio reflexo não só de fatores culturais e históricos já conhecidos, mas da integração diretamente relacionada à normatização de medidas de detecção, prevenção e repressão da corrupção e à cooperação social e de algumas instituições públicas. 5
5 6
ELLIOTT, Kimberly Ann. A Corrupção e a Economia Global. Brasília: Editora UNB, 2002. “Não foram falhas pontuais, individuais, pequenas fraquezas humanas. Foi um fenômeno sistêmico, estrutural, generalizado. Tornou-se o modo natural de se fazer negócios e política no Brasil. Esta é a dura e triste realidade.” Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/corrupcao-no -brasil-e-fenomeno-sistemico-e-estrutural-diz-ministro-do-stf. Acesso em: 30/05/2017); “A gravidade e a recorrência dos casos de corrupção demonstram que o problema possui abrangência sistêmica no Brasil. Não são episódios isolados, mas integram um ambiente geral, consolidado historicamente, que abrange todas as esferas da Administração Pública brasileira. Problemas sistêmicos demandam soluções sistêmicas.” Disponível em: http://www.oabrr.org.br/colegio-de-presidentes-da-oab-divulga-a-carta-deflorianopolis/. Acesso em: 10/04/2016.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
85
A criação da infraestrutura do combate da corrupção através de procedimentos estruturados, com função preventiva e repressiva, essencial para que os indivíduos consigam conduzir o desenvolvimento de suas relações e sobreviver num mundo em constante transformação e crescente competitividade, tem levado à adoção por diversos países de programas nacionais de integridade fundamentados no aumento da transparência pública, com a aplicação de princípios e processos que visem criar sinergias mais fortes entre Administração Pública e sociedade no exercício da capacidade administrativa do governo visando defender e promover o bem público, com uma gestão pública mais próxima do referencial da efetividade, promovendo a qualidade dos serviços públicos e a eficácia das políticas públicas. O Brasil, embora ainda apresente uma baixa difusão da transparência material como instrumento de combate da corrupção, demonstra um elevado potencial de participar da anticorrupção, já que o país conta não só com a cooperação mais ou menos sistemática da sociedade civil brasileira no combate à corrupção, empenho de algumas instituições oficiais brasileiras no aumento da eficácia de suas ações com vistas a imprimir maior consequência às atividades de combate à corrupção, com destaque à operação Lava-Jato, cujo responsável, o juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba, Sérgio Moro: “mais do que uma investigação criminal, transformou-se em um processo de amadurecimento institucional, no qual há crimes praticados por pessoas poderosas e em que se mudou de um regime de impunidade para outro de responsabilidade (pela prática de atos ilícitos)7”, com trabalhos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, mas também com a aplicação factual de mecanismos de controle da corrupção com ferramentas da iniciativa privada, como a adoção de programas de compliace8 na Administração Pública, e o aperfeiçoamento de mecanismos do setor público ligados à gestão estratégica da informação e a criação de redes de discussão, deliberação e provisão em função do valor público. JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO NO PROBLEMA No contexto da corrupção administrativa representativa da deturpação do poder administrativo, forma de abuso na esfera pública, revelada por 7
8
Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/ha-risco-de-retrocesso-diz-moro-sobre-combate-corrupcao-futuro-da-lava-jato-21041003#ixzz4e2oUgOBl. Acesso em: 10/04/2017; O Banco Mundial observou que as instituições são a estrutura de incentivos para o comportamento das organizações e dos indivíduos (Banco Mundial. Beyond the Washington Consensus: Instituttions Matter, Banco Mundial, 2001). Originado do termo inglês “to comply” complaice significa cumprir ou estar em conformidade com regulamentos internos e externos impostos às atividades de uma entidade. Não significa apenas cumprimento de regras, mas ter integridade em suas atividades.
86
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
diversas práticas, que podem ou não estar abrangida em tipos criminais, constituindo uma patologia9 cuja ocorrência é tida como uma espécie de má gestão pública10 nas sociedades contemporâneas, o Poder Público brasileiro apresenta um programa de uma transparência formal que impõe à administração pública o dever de divulgar os seus atos, com o objetivo de possibilitar o conhecimento público da atividade administrativa, velando pelo primado da moralidade nos seus atos. Essa programação assume no direito administrativo, desde o advento do Estado de Direito até a primeira metade do século XX11, o significado como uma obrigação formal de divulgação e/ ou disponibilização de informações à coletividade. Consequência lógica é a compreensão da publicidade administrativa como condição de requisito de eficácia e/ou validade dos atos administrativos, visando assegurar o conhecimento público da atuação administrativa12, conferindo certeza às condutas estatais e segurança aos administrados. 9
10
11
12
“bureaucratic corruption has bens regarded as a particularly viral formo f bureaupathology. ‘Once it enter the blood of a public organization, it spreads quickly to all parts. If ti is not diagnosed and treated it will eventually destroy public credibility and organizational effectiveness. Even if treated, there is no guarantee that it will be eliminated or that all infected áreas will be reached” (HOPE, Kempe Ronald. Politics, bureaucratic corruption, and amaladministration in the third world. In: Revue Internationale des Sciences Administratives. Bruxelles, v. 51, n. 1. p. 1-6, 1985). “(....) é tal o nível de degradação dos valores éticos nas Administrações Públicas, que parece que a questão se centra na corrupção, quando esta constitui tão somente um, embora seja o mais grave, dos atentados à ética em que pode incorrer um servidor público” (GONZÁLEZ PÉREZ, Jesus. La ética em la administración pública. Madrid: Civitas, 1996, p. 31/32). Embora o tema da publicidade administrativa, não sendo um problema recente, alcança relevo especial na modernidade, quando surge como uma forma para combater o segredo administrativo, característico do Estado Absoluto com relação aos atos do monarca fundados no poder divino. O direito administrativo moderno, cunhado sob o pensamento político liberal, e influenciado pelas ideias iluministas, consagrou a publicidade como divulgação oficial dos atos da administração pública, ainda que em caráter restrito, contrapondo-se ao modelo arcana imperi em que o segredo na gestão da vida coletiva viabilizava o cometimento de abusos e atrocidades. “Ser público é a mais elementar regra da Administração Pública no Estado Democrático de Direito, na medida em que os poderes e as funções do aparelho estatal são utilizados para gestão do interesse público, coisa alheia que a todos pertence.” (MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Transparência Administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, página 37); “Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade necessária não só deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõem a invalidação por falta desse requisito de eficácia e moralidade” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 94/95); “A publicidade transformou-se, assim, em condição essencial dos atos e decisões administrativas. Antes da publicação, os atos e decisões inexistem; sem a publicação e com a completude indispensável ao conhecimento da sociedade como um todo, são ineficazes, nulos, sem qualquer efeito jurídico” (REINALDO, Demócrito Ramos. A Publicidade dos Atos e Decisões Administrativas. In: Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, v. 9, n. 4, out/dez de 1997, p. 15-18); “Em um regime democrático devem os governantes agir à luz meridiana, expondo todos os seus atos ao estudo e à crítica dos interessados e dos competentes” (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1946, vol. 2. São Paulo: Editora Freitas Bastos, 1954, p. 39-40).
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
87
Embora, o sentido formal da transparência administrativa seja essencial na atividade administrativa, é insuficiente para a sua compreensão no quadro do Estado Democrático de Direito, em que é exigida uma atuação mais responsável no sentido de cumprimento pela administração pública do seu encargo de atender aos interesses da coletividade, devendo receber os influxos e estímulos da sociedade, rapidamente decodificá-los e prontamente oferecer resposta às demandas sociais. Assim, tendo em vista que a transparência formal configura a infraestrutura do combate da corrupção desenvolvido pelo Estado, e que esta se revela insuficiente para tal desiderato, faz-se necessário construir uma transparência material, no sentido de aproximar a Administração Pública da sociedade civil e dos indivíduos em geral. Essa aproximação é possível quando a administração atua de forma aberta. A abertura da administração pública possui além da dimensão formal, vinculada com a publicidade revelada pela divulgação oficial dos atos da administração pública, propiciando o conhecimento, o início da produção de efeitos e controle por qualquer dos administrados, uma dimensão material apresentada como uma expansão da publicidade. A introdução da governança pública, a reivindicação da democracia administrativa, a revolução das comunicações induzida pela plena adoção das tecnologias informáticas e a ascensão do pós-positivismo contribuíram para a mudança no enfoque da publicidade administrativa. São temas que formam o contexto político-jurídico para que se possa prosseguir na ideia da transparência material, indispensável na prevenção da corrupção. É importante registrar que, no ano de 2003, foi assinada em Mérida, no México, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, na qual vários países manifestaram o interesse de delinear um acordo verdadeiramente global e capaz de prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas. Esses países, inclusive o Brasil, se comprometeram a promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos. Mais recentemente, alinhado com esse objetivo, a ONU publica relatório de falta de padrões adequados de transparência, seja no planejamento do desenvolvimento nacional, na gestão das finanças públicas ou na prestação de contas em financiamento, de forma a respeitar o direito à informação, prejudicando a eficácia da atuação dos diversos órgãos e entidades, como também sua capacidade de prestar contas quando de eventuais irregularidades. São metas da convenção: cooperação para recuperar somas de dinheiro desviadas dos países; criminalização do suborno, lavagem de dinheiro e outros atos criminosos; elaboração de códigos de conduta para funcionários públicos; incentivo à participação da sociedade civil, das organizações na prevenção e luta contra corrupção; prevenção, necessidade de órgãos de preven-
88
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
ção contra prática de corrupção pelos países signatários; princípio, acentua a importância do princípio da eficiência no setor público; promoção à integridade nos setores públicos e privado; transparência no financiamento de campanhas e partidos políticos. Um dos princípios desse compromisso internacional é, diante da gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito, promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção, cabendo ao Estado desenvolver uma política de transparência que estimule a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. No contexto da transparência administrativa, surge Open Government Partnership, projeto de iniciativa da Tides Foundation, organização sediada nos Estados Unidos da América, na busca de governos mais transparentes, receptivos, responsáveis e eficientes. O Brasil, como membro da parceria, promove a Declaração para o Governo Aberto, buscando medidas para uma cultura global de governo aberto e participativo que dê autonomia aos cidadãos. Na mesma esteira, surge a organização Open Knowledge Foudation, sediada no Reino Unido e criada com o objetivo de promover o conhecimento livre, mediante a promoção dos conteúdos abertos. O diagnóstico da infraestrutura de combate da corrupção pela transparência formal no Brasil identificou os principais aspectos que podem restringir sua ampliação (conotação material) e inibir a difusão de seus benefícios pela sociedade, dentro das dimensões: a) exteriorização dos atos estatais: ausência de interação democrática, sem aptidão para gerar insumos na forma de demandas, comunicação de preferências e prioridades. Esse conhecimento público gerado com a divulgação não gera efetivo controle dos atos estatais pela sociedade, pois não há preocupação na construção de uma cidadania ativa possibilitando a sua participação na fiscalização da coisa pública. A fim de superar o segredo administrativo, bem como adquirir o status de público, basta ao Estado a presunção de conhecimento e circulação restrita da informação produzida pelos veículos oficiais: o objetivo era garantir a eficácia dos atos estatais; b) privilégio da forma: na exigência da divulgação oficial dos atos, da Administração Pública, privilegia-se a forma da ação da Administração Pública vinculada à lei que a prescreve, com aplicação em todos os seus atos e processos. Esse aspecto formal está associado à ideia de garantia
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
89
jurídica não apenas para o administrado, mas também para a própria Administração Pública, de obediência às formalidades, que devem ser observadas na formação da vontade da administração. A exigência da publicidade administrativa feita por norma jurídica ostenta a condição de requisito necessário à regularidade do ato. Enfoque esse legalista compatível com o Estado de Direito Formal, já que reflete o acatamento a uma estrutura normativa posta, vigente e positiva; c) ausência de explicações ou justificativas: na transparência formal, há mera exposição ao público, seja para validar o ato, seja para garantir sua eficácia, com observância da forma prevista. Não há preocupação em velar por explicações ou justificativas que permitam uma qualidade maior na elaboração da comunicação da Administração Pública com os cidadãos. A Administração Pública cumpre o seu dever quando disponibiliza dados. O dever envolve a exposição do ato em meios oficias. Sua finalidade é tornar pública, tornar do conhecimento público. A divulgação dos atos praticados pela Administração Pública abrange o meio utilizado para a exteriorização da vontade da administração, bem como o modo da divulgação. d) fragilidade do direito de saber: é um conhecimento dos atos, atividades e resultados da Administração Pública que, embora permita o monitoramento básico do exercício do poder administrativo por parte da sociedade civil, não é suficiente para possibilitar o cidadão de opinar e discutir políticas públicas que correspondam às suas expectativas e prioridades. É um controle baseado nos princípios da legalidade e formalismo, em que é feita a verificação retrospectiva da legalidade e uso apropriado dos recursos públicos. Com a exposição dos dados da gestão pública, o cidadão não conseguirá avaliar o comportamento das instituições, tampouco fazer um julgamento, ou tomar medidas para exercer defesas da gestão pública, de modo que não terá como assegurar ou ampliar seus direitos sociais. A disponibilização e posse das informações públicas lhe possibilitarão apenas defender-se individualmente contra a Administração Pública, num quadro de superação do segredo administrativo que ainda representa a exceção e não a regra. Esse cenário faz com que surja uma sociedade de indivíduos isolados uns dos outros, sem diálogo, com base num individualismo exacerbado, no qual os interesses individuais tendem a suplantar os interesses voltados ao bem-estar coletivo. Em consequência é o “Eu” que está em questão o tempo todo, alargado e exaltado em suas fronteiras até o espaço sideral. Para completar, a indiferença com as questões de âmbito coletivo aliada à postura autocentrada do indivíduo acabarão por acentuar a busca de crescimento econômico e acúmulo de riqueza numa lógica competitiva de produzir mais e mais, a não fraquejar nesse afã, a não parar, a tornar-se cada vez mais maquinal, bem
90
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
como havia sido previsto pelo visionário Charles CHAPLIN (1936) em seu filme “Tempos modernos” como “a nova doença do ser humano”13. Nesse sentido, pode-se afirmar que a noção de cultura do narcisismo ocupa um lugar de destaque na concepção da transparência formal, porque a lógica desse casulo é a autoabsorção, fator que confere uma preocupação excessiva com o “Eu”, ou seja, com olhos em seus próprios desempenhos particulares, os homens se tornam peritos em sua própria decadência. Embora o individualismo acompanhado da lógica acumulativa de riquezas seja a indiferença com assuntos de interesse coletivo e a formação de uma personalidade competitiva e até destrutiva, Singly (2002)14 acentua o elo do indivíduo em grupos, com uma multiplicação das pertenças geradoras de uma diversidade de laços que, tomados um a um, são menos sólidos, mas que, juntos, unem os indivíduos e a sociedade. e) não efetividade no controle da cidadania: temos uma cidadania preocupada com a proteção dos interesses privados perante o judiciário que exerce um poder declarativo e reativo, compatível com a ideia da separação de poderes como mecanismo estrutural do poder (limita o poder em contraposição ao fenômeno da concentração de poder vigorante no absolutismo monárquico de origem divina), do Estado (organiza o Estado através da distribuição orgânico-funcional) e garantista (protege os indivíduos contra o arbítrio, garante liberdade em face da vocação abusiva gerada na concentração de atribuições ou governo autocrático). OPÇÕES DE POLÍTICA PROPOSTAS Visando atingir as metas estabelecidas, foi identificado um conjunto de mecanismos e instrumentos capazes de solucionar as restrições existentes e garantir a transparência material: a) esclarecimento compartilhado: há uma preocupação de interação democrática apta a gerar insumos na forma de demandas, comunicação de preferências e prioridades, decorrente, no contexto de uma sociedade de informação, da democracia comunicativa e da publicidade crítica, pois, com a disseminação de informações públicas relevantes e compreensíveis, cria-se uma autodeterminação informativa, em que os indivíduos tornam-se mais conscientes de seus direitos e deveres, ganhando preparação cívica para debate público, com reivindicação de maior participação no 13 14
CHAPLIN, C. Modern times. Continental Filmes, 1936. SINGLY, F. de. O nascimento do indivíduo individualizado e seus efeitos na vida conjugal e familiar. In: PEIXOTO, F. de S.; CICCHELLI, V. (Orgs.). Família e individualização. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
91
funcionamento estatal e eficiência no atendimento de suas necessidades. Aproximação cada vez maior do Estado com a sociedade civil, com a criação de ambiente consensual e dialógico de interação e com a proteção da dignidade da pessoa humana. b) privilégio do conteúdo: com a exigência do esclarecimento compartilhado dos atos da Administração Pública, privilegia-se o conteúdo da ação da Administração Pública vinculado ao controle social com aplicação em todos os seus atos e processos. Esse aspecto material está associado à ideia de garantia jurídica não apenas para o administrado, mas também para a própria Administração Pública, de um processo de interação no qual prevalecem a expressão, a interpretação e o diálogo, que deve ser observado na formação da vontade da administração. Nesse cenário expansivo, a exigência da transparência administrativa ostenta a condição de requisito necessário à legitimidade do ato, enfoque compatível com o Estado de Direito Material, já que reflete o respeito de princípios substanciais, estabelecidos pelos direitos fundamentais. c) visibilidade: o cumprimento de suas determinações traduz-se pela exigência da visibilidade nos atos da Administração Pública, pelo esclarecimento compartilhado dos atos da Administração Pública possibilitando o controle social. Há preocupação em velar por explicações ou justificativas que permitam uma qualidade maior na elaboração da comunicação da Administração Pública com os cidadãos, no sentido de complementar o aspecto formal da publicidade e ampliar os seus efeitos, além da forma, para inspirar e fundar ações preventivas e corretivas da corrupção voltadas à preservação do princípio democrático e da legitimidade formal-material da atividade administrativa no quadro do Estado Democrático de Direito. Trata-se de um enfoque desenvolvido pelo emprego efetivo do poder administrativo não apenas quanto à sua adequação ao direito, mas, fundamentalmente, quanto à sua adequação à vontade consensual da sociedade, de modo a gerar e manter a crença de que as instituições são apropriadas ou apropriadas para a sociedade. Esse aspecto legitimador mais amplo da transparência está associado à ideia de aproximação para o cidadão e para a própria Administração Pública de cumprimento da exigência de correspondência entre as demandas sociais e as políticas que deve ser observada na atividade administrativa. Nesse cenário amplo, a transparência deixa de ser uma obrigação formal da Administração Pública com a natureza de condição de validade e/ou eficácia do ato administrativo para se tornar uma qualidade de agir administrativo, embasada em valores materiais de legitimação da atuação estatal. A transparência administrativa exige o esclarecimento do agir administrativo atentando-se para a qualidade informacional com a manutenção de um fluxo de
92
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
informações públicas pertinentes, confiáveis, inteligíveis e oferecidas no momento oportuno. Essa dimensão exprime o caráter “visível” da atuação administrativa. O dever envolve a compreensibilidade e utilidade das informações. O esclarecimento dos atos praticados pela Administração Pública abrange disponibilização de dados e informações que permita aos receptores (cidadãos) sua correta captação, processamento, compreensão e utilização na fiscalização da gestão pública. d) direito de compreensão: a transparência, por sua vez, pode ser concebida não apenas como um direito de compreensão dos atos administrativos (perspectiva do cidadão), mas também como um dever de explicação (perspectiva da Administração Pública). Visa possibilitar ao cidadão comum a compreensão da atividade pública, para que ele possa extrair substrato necessário não apenas para defender seus interesses individuais, numa ótica subjetivista, mas para avançar no sentimento coletivo e busca pela tutela impessoal do interesse público, através da possibilidade de fiscalização da atuação administrativa. Cabe considerar aqui os benefícios dessa postura do cidadão que, além do esforço administrativo de fomentar a realidade compreensiva da atividade pública, desenvolve o papel ativo de conscientização e interesse no trato do patrimônio público. No compartilhamento, a transparência da Administração Pública deve concretizar medidas que possibilitem o fácil acesso da informação pública administrativa, como, por exemplo, a criação de portais eletrônicos. Na linha concretizadora, além da criação de estruturas propícias ao cidadão no contato com a atividade pública, enfrentamos a problemática da fronteira do interesse público e interesse privado no aspecto do universo informacional. A excepcionalidade do sigilo conjugada com a ponderação legítima e justificada no conflito entre interesse público e confidencialidade deve ser o fator decisivo para justificar a transparência nessa dimensão do esclarecimento. Entretanto, também, em sua dimensão do compartilhamento, a transparência consiste no instrumento que compreende a formação de uma autonomia democrática traduzida, no plano sociopolítico, na abertura da Administração Pública à participação de diversos atores nos processos de decisão, formulação de políticas públicas e fiscalização da gestão pública. Na perspectiva do cidadão, fala-se na transparência como meio que serve para colocar os cidadãos em condições de compreender as ações dos administradores no trato da coisa pública. Mediante tais fatos, a compreensão surgida como passo seguinte após a divulgação e o conhecimento da informação pública é fundamentada na qualidade informacional, quer do ponto de vista do acesso social à informação pública, abrangendo o acesso físico e intelectual, quer na perspectiva do controle dos fluxos informacionais, emergente da ponde-
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
93
ração legítima entre transparência e segredo administrativo. Sendo assim, a simples acessibilidade da informação não será suficiente para conduzir à transparência material, ou seja, quando acessível e visível à sociedade, a informação pública irá gerar dois efeitos: (a) transformação social, o que implica na ideia de transparência das relações mais democráticas entre o Estado e a sociedade; e (b) cidadãos bem informados e mais exigentes na prestação de serviços públicos de qualidade. Por outro lado, o não acesso à informação tenderá a dificultar e/ou impossibilitar o exercício da cidadania, o que leva aos ensinamentos de DAHL15 quando afirma que “cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governante autoritário, mas seriam desastrosos para uma democracia”. Uma informação pode ser pública, mas não transparente, como quando não reúne os atributos mínimos de compreensibilidade e qualidade da informação, tampouco servir de forma suficiente como parâmetro de controle social, pois, sem a manutenção de um fluxo de informações pertinentes, confiáveis, inteligíveis, corretas, completas, atualizadas e oferecidas no momento oportuno, não há como possibilitar a contribuição do cidadão na formação da decisão do poder público, de forma a garantir um bom governo. O direito à compreensão dos atos, atividades e resultados da Administração Pública, permitindo um conhecimento real da atividade administrativa, desenvolve controle democrático do exercício do poder administrativo por parte da sociedade civil, permitindo ao cidadão acompanhar e influenciar as políticas públicas. e) efetividade no controle da cidadania: a formulação da transparência numa perspectiva relacional entre a Administração Pública e o cidadão, pelo binômio visibilidade-compreensão, exprime o caráter “participativo e/ou deliberativo” da Administração Pública, tornando-a acessível na dimensão operacional, com destaque à participação popular no espaço coletivo de reflexão da gestão e controle da Administração Pública. A participação ativa do cidadão na Administração Pública constitui não somente fator de democratização administrativa, mas precisamente uma maior legitimação da tomada de decisão administrativa. Tornar visível os atos da administração tendo em vista a compreensão do agir administrativo pelos cidadãos é objetivo de um paradigma de gestão que leva em conta a força substantiva no agir administrativo, na qual o maior controle social, seja para garantir os seus direitos fundamentais, seja para exigir a tutela impessoal dos interesses públicos, por uma adequação transposta da legalidade estrita para a conformidade do justo aos advogados da coletividade, é revelado por uma administração responsiva aos interesses 15
DAHL, R. A. Sobre a democracia. Brasília: Ed. UnB, 2001, p. 36.
94
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
e responsável perante ela por sua satisfação. A transparência cria um espaço de encontro e confronto de relações sociais estabelecidas pelos indivíduos, cujo funcionamento envolve singularidades e complexidades constitutivas das significações e articulações das pautas interativas estabelecidas pela realidade. Nesse espaço comum, o mundo humano é estruturado pelo cultivo de um cotidiano de interações sociais envolvidas num processo permanente de diálogo e convivência, de um horizonte de reflexão da essência humana em suas dimensões, desde os processos de reprodução aos de conservação. Com a transparência, verifica-se um controle da cidadania preocupada com o controle do exercício do poder administrativo perante o judiciário que exerce atuação proactiva, a fim de fazer valer os fins previstos na Constituição. Como poder político, atua na omissão dos outros poderes, a fim de proteger os direitos da pessoa. RECOMENDAÇÕES OU CONCLUSÃO: 1. O cenário de corrupção pública gera a necessidade de defesa da transparência pela Administração Pública Brasileira, viabilizada por instrumentos de visibilidade administrativa e por um processo de abertura administrativa que se efetiva no contexto da democratização do país e da necessidade de reestruturação e modernização do aparato administrativo com a finalidade de melhor servir aos interesses da sociedade. 2. A visibilidade administrativa como conteúdo da transparência administrativa é revelada na concepção democrática de accountability traduzida numa comunicação pública dialógica, e caracterizada pelo esclarecimento compartilhado da gestão pública. Na dimensão do esclarecimento, garante-se qualidade informacional e justificação administrativa, com acesso claro e compreensível da informação pública. Na dimensão do compartilhamento, analisa-se o acesso físico da informação pública e intervenção do cidadão na fiscalização e participação da gestão pública (reconhecimento do acesso à informação pública, a democratização digital e a gestão participativa). 3. A legitimidade da transparência está associada ao nível de interação da esfera civil na gestão pública desde que a Administração Pública crie canais institucionalizados para propiciar interferência e controle dos cidadãos sobre as decisões administrativas que lhe são fundamentais. É preciso que a Administração Pública esteja inserida em mecanismos que a conectem à sociedade e possam prover a redução das assimetrias informacionais entre cidadãos e Administração Pública e a participação da sociedade civil na gestão pública para um maior controle social nas políticas públicas concretizadoras dos direitos fundamentais.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
95
4. A legitimidade da transparência na democracia contemporânea não pode estar dissociada da estruturação democrática da Administração Pública. É, assim, imprescindível para sua legitimidade um arranjo institucional predisposto à funcionalização do agir administrativo em favor da coletividade consubstanciado numa gestão identificada com a lógica da articulação entre o Estado e outros atores sociais na construção do consenso cidadão na consecução do bem comum, posto que tal gestão favorecesse mecanismos para a formação de preferências e para deliberação. A legitimidade se expressa assim como a relação do poder administrativo com uma gestão pública fundamentada na governança pública norteada por critérios de eficiência, eficácia e efetividade, constitucionalmente vinculada e compartilhada na interação entre atores públicos e privados. Dessa maneira, o modo aberto de condução da gestão pública, com um modelo de governação com condições e procedimentos sob os quais se desenvolve a administração deliberativa, é condição essencial da Administração Pública Democrática. 5. A transparência no pensamento contemporâneo deve ser repensada na perspectiva da possibilidade de sua legitimidade, seja na remoção de barreiras que impedem a captura da Administração Pública por interesses particulares, seja na inclusão de mecanismos democráticos internos à Administração Pública relacionados com a formação das políticas públicas e decisões, seja na ampliação do governo eletrônico para garantir seu uso inclusivo, pedagógico e aberto para os cidadãos. Com base no desenvolvimento da política pública da transparência na Administração Pública Federal Brasileira, defende-se como possível e inclusive conveniente seu estudo de forma a desenvolver uma “capacidade coletiva” da Administração Pública para atingir resultados públicos sob a perspectiva tetradimensional: a) validade organizacional (introdução da ideia da governança); b) validade estrutural (desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação); c) validade ética (movimento anticorrupção); d) validade prestacional (capacidade do agente público de compreender e de responder às necessidades e às expectativas dos cidadãos, acompanhando, assim, nas suas complexidades e vicissitudes a instituição da responsividade que concilia a expressão da vontade popular democraticamente recolhida com a racionalidade pública; tal processo de compreensão produzido pelas explicações sobre a atuação da Administração Pública consiste na busca de referenciais de sentido sobre o agir administrativo, com a transformação da opacidade da realidade em caminhos “iluminados” como processo de adaptação e manipulação dos dados da gestão pública). 6. Diante da realidade de corrupção no âmbito da Administração Pública Brasileira com aumento do número de escândalos, pode-se concluir que não vivemos senão em uma Administração Pública formal e gerencial, que no seu funcionamento prático propicia o surgimento de uma prestação de
96
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
contas limitativa à prudência financeira e contabilística de acordo com os regulamentos e instruções com foco na eficiência nas operações da gestão pública e da qualidade dos serviços públicos, sem preocupação em velar por explicações ou justificativas que permitam uma qualidade maior na elaboração da comunicação da Administração Pública com os cidadãos. Essa a razão primacial do déficit de legitimidade democrática da função administrativa, desacreditada e reprovada pelo povo brasileiro, que nela não sente a canalização adequada dos múltiplos interesses da sociedade para a formação de medidas administrativas amparadas em escolhas fundamentadas na convergência de interesses e dignificação da pessoa humana. O déficit real de legitimidade da função administrativa associa-se, pois, ao reconhecimento pouco democrático da atuação administrativa, o que resulta na queda de confiança da sociedade à Administração Pública. REFERÊNCIAS BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (org.). Dicionário de Política. Brasília: Editora UNB, 2009. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1129668 – RS. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão julgador: Decisão Monocrática. Data do julgamento: 29/08/2013. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº 13520/DF. Relator: Ministra Laurita Vaz. Órgão julgador: Terceira Seção. DJe 02/09/2013. CHAPLIN, C. Modern times. Continental Filmes, 1936. ELLIOTT, Kimberly Ann. A Corrupção e a Economia Global. Brasília: Editora UNB, 2002. GHIZZO, Affonso Neto. Corrupção, estado democrático de direito e educação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesus. La ética em la administración pública. Madrid: Civitas, 1996. HOPE, Kempe Ronald. Politics, bureaucratic corruption, and amaladministration in the third world. In: Revue Internationale des Sciences Administratives. Bruxelles, v. 51, n. 1. p. 1-6, 1985. JIMÉNEZ, Fernando; CARBONA, Vicene. Esto funciona así. Anatomía de la corrupción en España, Dossier Corrupción en España, Letras Libres, Madrid, v. 125, p. 8-19, feb. 2012; JIMÉNEZ SANCHEZ, Fernando. La trampa política: la corrupción com problema de acción colectiva. In: Gobernabilidad, ciudadanía y democracia participativa: análisis comparado España-México. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2014. MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Transparência Administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1946, vol. 2. São Paulo: Editora Freitas Bastos, 1954. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005. PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. São Paulo: Atlas, 1999. REINALDO, Demócrito Ramos. A Publicidade dos Atos e Decisões Administrativas. In: Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, v. 9, n. 4, out./dez. de 1997, p. 15-18. SINGLY, F. de. O nascimento do indivíduo individualizado e seus efeitos na vida conjugal e familiar. In: PEIXOTO, F. de S.; CICCHELLI, V. (Orgs.). Família e individualização. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
Capítulo 8 O Financiamento das Smart Cities: Como os Estados Podem se Organizar para Construir uma Planta de Cidades Inteligentes? Ana Carla Bliacheriene Olívia de Quintana Figueiredo Pasqualeto
1. INTRODUÇÃO Apresenta um panorama geral sobre os principais desafios do financiamento de plantas das smart cities (cidades inteligentes) ou para a transição de um modelo analógico e hierárquico clássico de cidades para uma cidade mais horizontal e inteligente, especialmente sob o enfoque da (re)organização orçamentária e financeira dos Estados. Busca-se apresentar hipóteses para a seguinte pergunta: como os estados podem se organizar orçamentária e financeiramente para construir uma planta de cidades inteligentes? Como será visto abaixo, a resposta a tal indagação perpassa a necessidade de mudança de um Estado preponderantemente analógico para um Estado digital, que seja capaz de acompanhar as transformações trazidas pela economia digital. 2. JUSTIFICATIVA PARA A AÇÃO NO PROBLEMA De acordo com a Organização das Nações Unidas, em sua “Nova agenda urbana”, espera-se que, até 2050, “a população urbana quase duplique fazendo da urbanização uma das mais transformadoras tendências do Século XXI” (ONU, 2016, p. 11). As cidades tornaram-se no palco das atividades econômicas, relações sociais e debates políticos, bem como o centro dos impactos ambientais, desigualdade social e pobreza. Hoje, há cidades com tamanha proeminência – política, econômica, financeira, tecnológica e científica – que exercem impacto regional e global maior do que muitos Estados-nação com assento na ONU: são as chamadas “cidades globais”. A aposta é que essas cidades figurem como atores relevantes no cenário político e internacional e, justamente por isso, são o foco das ações para também se tornarem cidades inteligentes (smart cities).
98
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A formação das smart cities se deu a partir de três grandes perspectivas ou ondas de estudos: a primeira ligada essencialmente à engenharia e tecnologia da informação; a segunda relacionada à utilização da tecnologia para prover conforto à população; e a terceira pautada pela preocupação com a construção de uma cidade mais participativa. As primeiras análises sobre as cidades inteligentes se iniciaram na década de 1990, principalmente com estudiosos das áreas da engenharia e da tecnologia da informação, concentrando-se na ideia das cidades digitais, capazes de utilizar dispositivos tecnológicos para a captação de dados com a finalidade de distribuição massiva dessas informações. Havia, portanto, nessa primeira onda, uma preocupação maior com a infraestrutura de sistemas tecnológicos. Posteriormente, em uma segunda onda de estudos, houve maior intersecção com áreas mais próximas das ciências humanas, como economia, arquitetura e ciência política. Essa segunda onda se dedicou à compreender qual poderia ser a utilidade da captação de dados, isto é, como seria possível utilizar tais dados para proporcionar maior conforto coletivo (por meio dos bens de fruição transindividuais e políticas públicas universais nas áreas da educação, saúde, transporte, moradia, resíduos sólidos, etc.) para a população. Essa foi a temática de base da segunda onda de estudos que, para tanto, se especializou em gestão inteligente (smart manegement) e no chamado “e-governo”, que é aquele governo que se torna mais digital reduzindo (mas não extinguindo) a burocracia, buscando serviços mais qualificados e estrutura física menor e mais eficiente. Por fim, a terceira onda envolve análises feitas principalmente por estudiosos da ciência política e do direito, cuja preocupação é estimular a participação social nas tomadas de decisão e nas políticas públicas na cidade. Para essa corrente, não basta haver uma base digital sólida e uma estrutura de conforto acessível a todos, é preciso também que toda essa estrutura tecnológica das smart cities possibilite a participação dos cidadãos nas decisões políticas da cidade (smart citizen), favorecendo a e-democracia. Importante notar que nem todos os Estados se enquadram nessa terceira onda. É possível ter cidades modeladas na primeira e segunda com uma melhora expressiva na oferta de serviços públicos e na sensação de satisfação dos cidadãos sem que se aprofunde em sistemas democráticos, a exemplo de algumas cidades na China ou do próprio caso de Dubai que recebeu premiação e reconhecimento internacional. Nesse sentido, embora as cidades inteligentes possam servir para potencializar a democracia e os mecanismos de participação, não necessariamente elas estão vinculadas a governos democráticos, o que, sem dúvida, serve de base para uma discussão ética nos estudos atuais.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
99
A construção de tais cidades (baseada na primeira, segunda ou terceira onda) encontra um desafio: como financiar a migração ou a implantação de plantas de smart cities? É possível pensar em dois caminhos para o endereçamento da questão: um ligado à busca direta de financiamento (em agências internacionais, organizações internacionais, bancos internacionais de desenvolvimento) para a implantação das cidades inteligentes; outro relacionado à (re)organização orçamentária e financeira dos Estados para construir uma planta de cidade inteligente. Embora as opções não sejam excludentes, esse segundo caminho foi o escolhido para ser desenvolvido neste texto. Assim, indaga-se: como os estados podem se organizar orçamentária e financeiramente para construir uma planta de cidades inteligentes? A resposta a essa pergunta passa pela identificação de pressões orçamentárias e desafios a serem superados. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é possível afirmar que o caminho é mais longo, já que se enfrenta a transição para a quarta revolução industrial, ao mesmo tempo em que há preocupações com a infraestrutura básica para a oferta de saúde, educação, transporte. Nesse sentido, fica clara uma dupla pressão orçamentária. O Brasil é um país de contrastes: ao mesmo tempo em que o Brasil cria mecanismos para se adequar à indústria 4.0 e produz tecnologia de ponta, há uma grande parcela da população que ainda não tem acesso a um sistema de saneamento básico. Se, de um lado, existe a oferta gratuita pelo SUS de medicamentos de alto custo para o tratamento de câncer, de outro, o analfabetismo campeia entre adultos e crianças que saem da escola pública com analfabetismo funcional. Ao analisar a estrutura de países desenvolvidos, como os países escandinavos, por exemplo, verifica-se que há uma infraestrutura de conforto coletivo sólida, com serviços básicos públicos universais e disponíveis para todos, diferentemente do Brasil e de outros países em desenvolvimento, marcados pela desigualdade e pela diferenciação de acesso aos serviços públicos qualificados. Nesse sentido, a criação e fortalecimento de cidades inteligentes no Brasil deve considerar a necessidade dessa infraestrutura coletiva que proporcione boas condições de vida para todos (o que, nos países desenvolvidos, foi feito desde o final do século XIX) e, simultaneamente, se adequar ao mundo da quarta revolução industrial, para que o país não seja um mero espectador desse novo mundo ou um mero consumidor de quem cria soluções, sem qualquer protagonismo internacional. É preciso criar soluções locais e, eventualmente, consumir soluções externas pertinentes e positivas. A transição para a quarta revolução industrial está rodeada de desafios advindos da crescente economia digital, paralela à economia analógica (em
100
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
relação à qual o Estado estava adaptado e baseou o seu sistema de arrecadação de receitas tributárias). A nova economia (digital) nasce aerada e disruptiva, de difícil compreensão e aferição de todas as operações, sendo marcada pelo avanço do e-governo; indústria 4.0; economia colaborativa; mudanças nos modelos clássicos de financiamento com forte impacto no poder impositivo do Estado de captação de receitas; criptomoedas paralelas ao Estado; tecnologia blockchain com a pulverização dos dados e certificação que não depende mais só de um órgão (estatal) central; big data e criação de grandes bancos de dados que influenciam nos mais variados espectros da tomada de decisão: eleições, vendas e campanhas de marketing. Ilustra-se a rapidez e intensidade dessas mudanças a partir de exemplos conhecidos e muito próximos no dia a dia: • na década de 1990, operadoras de telefonia tornaram-se grandes conglomerados em função dos regimes de concessão. Hoje, sofrem a forte concorrência do popular aplicativo de comunicação WhatsApp; • a televisão a cabo e as locadoras de filmes perderam, de forma crescente, espaço no mercado para os serviços de streaming como o Netflix e Podcasts; • meios tradicionais de transporte, como os táxis, são cada vez menos utilizados em função da facilidade e barateamento dos preços oferecidos pela Uber. Em várias cidades, a oposição táxi versus Uber, além da concorrência, gerou até mesmo episódios de violência física; • hotéis, pousadas, albergues, imobiliárias e outros sistemas de hospedagem travam batalhas jurídicas e enfrentam a concorrência de serviços online como o Airbnb, que servem como vitrines para aluguel de acomodações, permitem o ranqueamento e comentários sobre a qualidade da hospedagem (ao invés da tradicional certificação por meio de estrelas); • a indústria automobilística, especialmente vinculada à utilização de combustíveis fósseis, se depara com a concorrência dos carros elétricos e autoguiados, como aqueles produzidos pela Tesla; • livros, jornais e livrarias perdem, cada vez mais, espaço para a circulação de informação pelo meio digital, por meio do Facebook e Amazon, por exemplo; • gravadoras e distribuidoras de música enfrentam a concorrência e tentam se adaptar à nova realidade dos serviços de streaming, como o Spotify; • bancos e seguradoras tradicionais deparam-se com a concorrência crescente das fintechs, insurtechs, bancos digitais; • os tradicionais sistemas de fornecimento de energia competem com as cleantechs, especializadas nas matrizes energéticas limpas e sustentáveis; • a indústria da saúde e da medicina se opõe às biotechs e seus novos produtos mais eficientes e sustentáveis.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
101
Essas, entre tantas outras transformações, exigem que o Estado também se transforme para que seja capaz de acompanhar a nova economia digital e, consequentemente, consiga atualizar o seu modelo arrecadatório, já que o modelo tributário tradicional foi pensado para uma economia analógica (ou seja, não digital), que cada vez mais perde espaço. 3. OPÇÕES DE POLÍTICA PROPOSTAS A economia está deixando de ser analógica para ser digital. Porém, nosso sistema jurídico e de arrecadação é todo baseado em uma economia analógica. É preciso fazer uma travessia entre o antigo mundo analógico para o novo mundo digital. Nesse momento, a sociedade civil, os governos e as empresas estão em uma transição, o que requer, igualmente, uma transição do direito. O direito – tributário, constitucional, administrativo e financeiro – que existe não é mais suficiente para lidar com as transformações da revolução 4.0 e da economia digital. Para tanto, identifica-se as seguintes estratégias para viabilizar tal transição: (i) aumento do índice de digitalização do governo; (ii) migração do modelo tributário do controle de declarações para o controle de transações, por meio da adoção do blockchain como certificador qualificado da existência dos fatos jurídicos tributários; (iii) captação do fluxo de bens, serviços, informação e pessoas; (iv) incentivo à transparência e alinhamento do direito tributário com atividade econômica, conforme melhor detalhado no item seguinte. 4. RECOMENDAÇÕES A transição do Estado analógico para o Estado digital, embora complexa, não pode ser lenta, já que a economia digital avança rapidamente. De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2018), no mundo, “a economia digital cresce a um ritmo 2,5 vezes superior à economia tradicional e representará 23 trilhões de dólares em 2025. No Brasil, a economia digital representava 22% do Produto Interno Bruto em 2016 e chegará a 25% em 2021” (BRASIL, 2018, p. 2). (i) Uma das primeiras necessidades existentes é o aumento do índice de digitalização, transformando o governo em um Governo 4.0, digital e inteligente (e-governo), em que parte importante da estrutura física (dos guichês de atendimento presenciais) dá espaço ao autosserviço (em que o próprio cidadão é o protagonista da solicitação e encaminhamento) viabilizado pelo meio digital, gerando mais eficiência, menos burocracia e menos custo. Isso não significa extinguir o Estado ou a necessidade da burocracia para temas e assuntos
102
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
específicos, mas adequá-lo à rapidez que o mundo digital exige, mantendo a estrutura física apenas para aquilo que é de fato necessário. De acordo a ONU, em seu Estudo sobre Governo Eletrônico (2018), lideram o ranking com maiores Índices de Desenvolvimento de Governo Eletrônico (EGDI)1, Dinamarca (1º), Austrália (2º), Coreia do Sul (3º), Reino Unido (4º), Suécia (5º), Finlândia (6º), Singapura (7º), Nova Zelândia (8º), França (9º) e Japão (10º). O Brasil está situado na 44ª posição: considerando a existência de mais de 190 países no mundo, o Brasil possui um EGDI intermediário (0,733), mas ainda muito distante do primeiro colocado, que possui EGDI de 0,915. Portanto, há muito no que avançar. Cerca de 1 trilhão de dólares são economizados anualmente com a redução dos custos e o aumento da eficiência operacional proporcionados pela digitalização do governo. Ademais, estima-se que, “a cada 1% de crescimento na digitalização do governo, crescem, proporcionalmente, 0,5% do PIB do país; 0,13 pontos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 1,9% do comércio internacional” (BRASIL, 2018, p. 2). Assim, além da eficiência, o aumento da digitalização do governo tende a trazer economia para o Estado. (ii) Sugere-se a migração do controle baseado em (auto)declarações para o modelo de controle das transações baseado no blockchain. O modelo tributário brasileiro atual é fundado nas declarações dos próprios usuários ou do lançamento aferido pela autoridade tributária (servidor público), isto é, a tributação depende daquilo que for declarado ou que for apreendido pela fiscalização. Entende-se mais adequado, na economia digital, controlar as transações, isto é, não depender das declarações, mas conhecer de antemão aquilo que é transacionado, o que permitiria uma diminuição da evasão fiscal e a redução dos custos de operação. O modelo arrecadatório brasileiro é rápido para se constatar eletronicamente a entrega das declarações, mas não é rápido o suficiente para constatar as operações e, por isso, precisa de estrutura física (e gasto) maiores. Para tanto, um caminho possível é a adoção massiva do blockchain a fim de validar de forma automática e segura as transações, tornando o modelo arrecadatório mais eficiente. (iii) Para se adequar à economia digital e prover estrutura para o desenvolvimento das smart cities, será também necessário melhorar a captação do fluxo de bens, serviços, informações e pessoas, a fim de viabilizar o mapeamento de uma tributação mais justa e proporcional para cada um desses fatos. Hoje, em função do modelo baseado nas declarações, o mapeamento não é assertivo. Contudo, embora as novas tecnologias de informação e comunicação tenham aberto oportunidades para que os Estados arrecadem com mais eficiência, 1
O EGDI considera serviços digitais, infraestrutura de telecomunicações e capital humano.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
103
“esses mesmos determinantes técnicos ou tecnológicos tornam obsoletos, inadequados e até inoportunos muitos dos impostos desenhados e cobrados em uma economia que não era digital” (CORREIA NETO; AFONSO; FUCK, 2019, p. 149). (iv) Identifica-se também a necessidade de os governos aumentarem a transparência de suas atividades, eliminar brechas legais e alinhar o direito tributário com o avanço da atividade econômica. É preciso criar modelos tributários favoráveis à inovação ambiental, social, tecnológica. Hoje, o modelo tributário brasileiro favorece a indústria suja, isto é, aquela que polui. Embora tal tipo de indústria ainda seja necessário (pois é uma indústria que produz muito, exporta e gera postos de trabalho), não se pode ficar atrelado somente a ela. A estratégia de financiamento para as cidades inteligentes necessariamente deve favorecer a inovação e a sustentabilidade. O atendimento a essas recomendações está rodeado dos seguintes desafios, os quais não podem ser desconsiderados: • dificuldades de tributação da renda em função do modelo baseado nas declarações; • intensas mudanças no mundo do trabalho, que também se insere na quarta revolução industrial e presencia, cada vez mais, a diminuição dos postos de trabalho em função da automação das atividades e do impacto da inteligência artificial. Com o tendencial aumento do desemprego (em atividades não qualificadas e em atividades qualificadas), as pessoas terão que se reinventar e criar oportunidades ou se tornarão clientes do sistema social, o que eleva a pressão orçamentária já existente; • a atuação de robôs embarcados com inteligência artificial; • a ascensão de bens intangíveis ainda não totalmente captados pelo direito público; • a rigidez do texto constitucional, a legalidade estrita e o formalismo característicos do direito (administrativo e constitucional, especialmente). Não se trata de abandonar princípios importantes que regem a administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência –, mas a rapidez da economia digital não é compatível com a demora e o alto custo político da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, por exemplo. As alterações no modelo tributário seriam mais eficientes se fossem feitas por meio do processo de aprovação de lei complementar ou ordinária; • a existência de conflitos de competência federativa, a exemplo da discussão frequente entre o que é serviço e o que é bem, o que acarreta a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) ou imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
104
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). Será preciso pacificar esse debate, que tende a encontrar situações híbridas na área de inovação e tecnologia; • autonomia financeira dos entes federativos, sobretudo ao se discutir unificação e simplificação de tributos para fazer frente à economia digital; • ampliação da descentralização da prestação de serviços; • discussão sobre quais devem ser os tributos do futuro. Países desenvolvidos estão travando essa discussão: existem tributos obsoletos? Deve haver taxação dos robôs? Como prosseguir à taxação do capital intelectual (intangível)? Deve haver tributação daquelas empresas que mais demitem? Seria possível (e como) instituir uma renda básica universal? Como tributar a economia colaborativa que está passando ao largo dos olhos do Estado? Esses desafios devem ser considerados, sobretudo, diante das incongruências geradas pelo (des)encontro do Estado analógico com a economia digital. A título exemplificativo, dois fatos ilustram esse anacronismo: a Amazon paga hoje onze vezes menos impostos que uma livraria tradicional e as plataformas digitais pagam menos da metade dos tributos que os negócios tradicionais no Brasil, sendo que são esses os negócios que mais crescem hoje (AFONSO; PORTO, 2018). Assim, é premente repensar o modelo arrecadatório existente hoje para que o Estado brasileiro se adeque à nova economia e consiga fazer uma travessia para o mundo digital. Enquanto isso, no entanto, a reforma tributária discutida no Congresso Nacional restringe-se à discussão sobre a tributação de bens de capital (enquanto os bens imateriais são os que crescem), a tributação sobre heranças, a tributação sobre grandes fortunas, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), criação do Imposto sobre Valor Agregado. Sem um modelo arrecadatório que se adeque à economia digital, não será possível financiar as cidades, sejam elas analógicas ou inteligentes, nem também sobreviver de forma segura e justa às transformações da economia digital, da sociedade e do trabalho que nos impõe a Quarta Revolução Industrial. REFERÊNCIAS AFONSO, José Roberto; PORTO, Lais Khaled. Tributos sem futuro. Revista Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 72, n. 9, p. 32-35, set. 2018. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rce/article/ view/78779. Acesso em: 14 dez. 2019. BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Transição de governo 2018-2019: informações estratégicas. 2018. Disponível em < https://transicao.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/10_Governo-Digital_versão_para_publicação.pdf >. Acesso em: 13 dez. 2019.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
105
CORREIA NETO, Celso de Barros; AFONSO, José Roberto Rodrigues; FUCK, Luciano Felício. A Tributação na Era Digital e os Desafios do Sistema Tributário no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 15, n. 1, p. 145-167, set. 2019. ISSN 2238-0604. Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/ article/view/3356/2343. Acesso em: 14 dez. 2019. doi:https://doi.org/10.18256/2238-0604.2019.v15i1.3356. ONU. Estudo sobre governo eletrônico. 2018. Disponível em: https://publicadministration.un.org/egovkb/ Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_Portuguese.pdf. Acesso em 13 dez. 2019. ONU. Nova agenda urbana. 2016. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf. Acesso em: 13 dez. 2019.
Capítulo 9 As Cidades Inteligentes e a Tributação na Economia Digital Rangel Perrucci Fiorin
INTRODUÇÃO Este artigo tem por intento apresentar, ainda que de maneira sintética, discussões tributárias relacionadas à competência tributária e à economia digital disponibilizadas nas cidades inteligentes, para favorecer o desenvolvimento do município e do cidadão. 1. CIDADE INTELIGENTE A Quarta Revolução Industrial (4.0) grifa um novo marco na história da humanidade, da sociedade e das cidades, que passam a enfrentar dificuldades na adequada classificação das atividades e negócios decorrentes das Operações Digitais, da Internet das Coisas (IoT), da Inteligência Artificial (IA), da Manufatura Aditiva (ou Impressão 3D) e dos Software as Service – SaaS. De acordo com José Francisco Siqueira Neto e Daniel Francisco Nagao Menezes: Não há uma definição única para a expressão Cidade Digital, mas linhas que identificam o que se comtempla numa Cidade Digital. Assim, o conceito, bem como as características, são planos complexos, já que estão ligados a utilização de tecnologias disponíveis de acordo com a necessidade e o nível de desenvolvimento de cada munícipio para implementação de recursos tecnológicos na otimização e eficiência de gestão.1
Em suma, a indústria 4.0 faz referência a um conjunto de tecnologias direcionadas à melhoraria da qualidade de vida dos cidadãos, do meio ambiente, da 1
SIQUEIRA NETO, José Francisco; NAGAO MENEZES, Daniel Francisco. Dicionário de Inovação Tecnológica/ [organizado por] José Francisco Siqueira Neto e Daniel Francisco Nagao Menezes. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2020, p. 51.
108
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
mobilidade, da segurança, da educação, e economia que necessitam ser estudadas e discutidas com maior profundidade, de modo a refletir adequada incidência e cobrança tributária. Isso porque a aplicação de tais tecnologias, nas cidades inteligentes, provocam rupturas de padrões e conceitos preestabelecidos, surgindo à tona as discussões tributárias decorrentes dos conflitos de competência entre estados e municípios, que pretendem aumentar a tributação através do ICMS ou do ISS. Consignamos que a economia digital provoca uma desintermediação dos negócios e transações, provocando um descompasso entre a evolução tecnológica e a evolução normativa preestabelecida. 2. SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO Registramos que o plano normativo constitucional atribui limites à atuação da competência tributária da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo certo que não ficam restritos à mera expressão terminológica, mas são imposições garantidoras dos direitos do contribuinte. Ao depreendermos sobre a visão sistemática do plano normativo que trata da matriz do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza – ISS, verificamos: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III – Serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, I, “b”, definidos em lei complementar.
Por essa lógica, nos termos do art. 1º da Lei Complementar 116/2003, o fato jurídico tributário do ISS é a prestação de serviços: Art. 1º O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituem como atividade preponderante do prestador. § 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. § 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. § 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. § 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. (negritamos)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
109
Com isso, o art. 1º da LC 116/2003 estabelece o critério material do ISS, qual seja a prestação de serviços constantes da lista de serviços, realizados no Território respectivo de cada Município. Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do critério material da regra-matriz do ISS, explica: No caso do ISS, esse núcleo é representado pelo verbo “prestar”, acompanhado do complemento “serviços de qualquer natureza” fazendo-se necessário consignar que a referida locução não engloba os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, por expressa previsão no art. 156, III, da Carta Magna, bem como por integrarem o âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 155, II desse mesmo Documento normativo. Examinando o conteúdo significativo da expressão “serviços de qualquer natureza”, empregado pelo constituinte par fins de incidência desse gravame, percebe-se, desde logo, que o conceito de “prestação de serviço”, nos termos da previsão constitucional, não coincide com o sentido que lhe é comumente atribuído no domínio da linguagem ordinária. Na dimensão de significado daquela frase não se incluem: a) o serviço público, tendo em vista ser ele abrangido pela imunidade (Art. 150, IV, a, da Carta Fundamental); b) o trabalho realizado para si próprio, despido de natureza econômica; e c) o trabalho efetuado em relação a subordinação, abrangido pelo vínculo empregatício.2
O mesmo autor arremata: A mais desse fator, é forçoso que a atividade realizada pelo prestador apresenta-se sob forma de “obrigação de fazer”. Eis aí outro elemento caracterizador da prestação de serviços. Só será possível a incidência do ISS se houver negócio jurídico mediante o qual uma das partes se obrigue a praticar certa atividade, de natureza física ou intelectual, recebendo, em troca, remuneração. Por outro ângulo, a incidência do ISS pressupõe atuação decorrente do dever de fazer algo até então inexistente, não sendo exigível quando se tratar de obrigação que imponha mera entrega, permanente ou temporária, de algo que já existe.3
Isso significa dizer que não é o serviço que é tributado, porque não existe nenhuma atividade humana que demonstra a existência de capacidade e autoriza a incidência de um tributo, mas a prestação de serviços, a terceiro, de uma utilidade (material ou imaterial) prevista em lei complementar, com conteúdo econômico, em caráter negocial. 2
3
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 684-685. CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., p. 686.
110
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Dessa feita, para reconhecer a precisa configuração da competência atribuída aos Municípios e Distrito Federal, é necessário verificar o alcance da contratação da prestação de serviço. De acordo com Aires Fernandino Barreto: [...] prestação de serviços a partir do conceito jurídico constitucional, e o fez nos seguintes termos: ‘Prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter negocial, sob regime de direito privado, tendente à obtenção de um bem material ou imaterial.4
Nos termos da Teoria Geral do Direito das Obrigações: i) obrigações em que a prestação consiste em dar alguma coisa (classifica-se como obrigação de dar); e ii) obrigações nas quais a prestação consiste num fazer ou não fazer algo em prol ou contra outrem (classifica-se como obrigação de fazer e de não fazer). Dessa feita, analisando os Capítulos que tratam das Obrigações do Código Civil, consta-se que as obrigações de fazer são concretizadas mediante prestações de serviços, conforme interpretação dos artigos 247 e 593 do Código Civil: Das Obrigações de Fazer Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. [...] Da Prestação de Serviço Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.
Em outros termos, o critério material do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza – ISS é o comportamento humano – prestação de serviço – que visa uma obrigação de fazer. Logo, deveria ser tributado pelo município a atividade-fim, não podendo se decompor tal atividade em várias ações-meio para tributar o imposto municipal, sob pena de inclusive violar o art. 110 do Código Tributário Nacional: Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. (destacamos) 4
BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e Lei. São Paulo: Dialética, 2003, p. 62.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
111
Destarte, não é preciso maiores ilações para se concluir que há ausência de precisa sustentação jurídica que autoriza a exigência de ISS sobre algo que não se configura prestação de serviço. No que tange o ICMS, apresentamos a prescrição Constitucional: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre: [...] b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
Escrevemos também a prescrição do art. 2º da Lei Complementar 87/96, que trata do imposto dos Estados e do Distrito Federal incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação: Art. 2° O imposto incide sobre: I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
Em suma, trata-se de imposto de competência estadual que alberga cinco núcleos distintos de incidência: a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de mercadorias), que, de algum modo, compreende o que nasce da entrada de mercadorias importadas do exterior; b) o imposto sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual; c) o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; e e) o imposto sobre extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais.5 Seja como for, atualmente presenciamos, no mundo dos negócios digitais, dúvidas sobre a adequada incidência e cobrança do ISS ou ICMS. 5
CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 17ª ed., Editora Malheiros, 2015, p. 34-35.
112
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
3. A ECONOMIA DIGITAL E CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS Calha de plano mencionar que a Lei Complementar 157/2016 passou a tributar o processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Posteriormente, o município de São Paulo editou Parecer Normativo SF nº 1, de 18 de julho de 2017, com a seguinte Ementa: Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS relativamente aos serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, por meio de suporte físico ou por transferência eletrônica de dados, ou quando instalados em servidor externo.
Por sua vez, o Decreto/SP n° 63.099/2017 Introduziu alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS e passou a tributar as saídas de bens ou mercadorias digitais – software disponibilizado por meio de transferência eletrônica (download, streaming e nuvem). Na sequência, o Estado de São Paulo publicou a Decisão Normativa CAT nº 4, de 20 de setembro de 2017, em que aprovou a proposta da Consultoria Tributária e expediu o seguinte ato normativo em relação aos softwares. Posteriormente, foi editado pelo CONFAZ o Convênio 106, de 29 de setembro de 2017, que disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados. Resumidamente, há claro conflito de competência entre estados e municípios no que se refere à cobrança do ICMS ou ISS incidente sobre as operações digitais. O entendimento doutrinário sobre o tema também não é uníssono. Para Luciano Garcia Miguel, o conceito de mercadoria ao caráter material ou da transação não se sustenta: ... a incidência tributária leva em conta a natureza da operação relativa a circulação de bens corpóreos ou digitais. Se em uma transação que configure licença de uso, ocorrer uma circulação do bem digital em caráter eventual, sem finalidade mercantil, é certo que não haveria a incidência do ICMS, pois
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
113
não se verificam os elementos caracterizadores da hipótese de incidência desse tributo. Caso por outro lado, tal transação configurar uma operação relativa a circulação de mercadorias, haveria incidência de ICMS. Da mesma forma, pode haver incidência do ICMS ainda que o lencenciamento de software seja considerado ilegal ou irregular de acordo com a legislação protetiva. Assim caso uma transação com software seja respaldada por um licenciamento indevido ou por pessoa que não tenha titularidade para tanto, em operação que caracteriza circulação de mercadoria, haverá regular incidência do ICMS, ainda que de acordo com a lei protetiva da propriedade intelectual não tenha havido regular licença de uso.6
Alberto Macedo, em sentido contrário, concluiu que, à luz dos conceitos constitucionais de mercadoria e de serviços, o licenciamento de software é um objeto de incidência de ISS: ... não só quando havia a necessidade de um suporte físico, para transportar o software da loja onde se adquiria a licença, mas também quando, com o desenvolvimento da internet, possibilitou-se ser o transporte dessa licença feito via download, dispensando-se o suporte físico, e agora, mais ainda, quando sequer é necessária a instalação do software na máquina do usuário, dado que esta pode utilizar na nuvem, no que se convencionou denominar Software as Service – SaaS.7
Em resumo, não há solução definitiva para dirimir tal conflito de competência entre os estados e municípios, o que gera sem dúvida enorme insegura jurídica aos contribuintes. A par das considerações apresentadas, sem tratar da possível violação do pacto federativo neste artigo, uma solução seria a criação do IVA – imposto sobre valor agregado, com repartição de receitas entre estado e municípios, frente à reforma tributária com fixação de alíquota para um Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS Após o estudo realizado concluímos quea indústria 4.0 faz referência a um conjunto de tecnologias, também direcionadas a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, o meio ambiente, a mobilidade, a segurança, educação, e economia. 6
7
MIGUEL. Luciano Garcia. O conflito de incidência do ISS e ICMS na tributação da nova economia. In Tributação de bens digitais: a disputa tributária entre Estados e Municípios. Notas sobre o Convênio ICMS 106/2017 e outras normas relevantes. Editora InHouse: 2018. p. 56–57. MACEDO. Alberto. Licenciamento de software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do avança do conceito constitucional de mercadoria com bem imaterial e suas implicações na incidência do ISS, do ICMS e dos tributos federais. In Tributação de bens digitais: a disputa tributária entre Estados e Municípios. Notas sobre o Convênio ICMS 106/2017 e outras normas relevantes. Editora InHouse: 2018. p. 134.
114
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Consequentemente, a aplicação de tais tecnologias provocam grandes rupturas aos padrões e conceitos preestabelecidos, surgindo à tona as discussões tributárias decorrentes dos conflitos de competência entre estados e municípios. O critério material do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza – ISS é o comportamento humano – prestação de serviço – que visa uma obrigação de fazer. Logo, deve ser tributado pelo município a atividades-fim, não podendo se decompor tal atividade em várias ações-meio para tributar o imposto municipal. A Constitucional Federal no artigo 155, II, trata da Competência e matriz constitucional do imposto estadual, que alberga cinco núcleos distintos de incidência: a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de mercadorias), que, de algum modo, compreende o que nasce da entrada de mercadorias importadas do exterior; b) o imposto sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual; c) o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; e e) o imposto sobre extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. No entanto, a Lei Complementar 157/2016 passou a tributar, entre outros, o processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. O Decreto/SP n° 63.099/2017 passou a tributar as saídas de bens ou mercadorias digitais – software disponibilizado por meio de transferência eletrônica (download, streaming e nuvem). Na sequência, o Estado de São Paulo publicou a Decisão Normativa CAT nº 4, de 20 de setembro de 2017, expedindo ato normativo em relação aos softwares. Posteriormente, foi editado pelo CONFAZ o Convênio 106, de 29 de setembro de 2017, que disciplinou os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados. Resumidamente, há claro conflito de competência entre estados e municípios sobre a incidência tributária, que está sem solução definitiva até o momento e gera enorme insegura jurídica aos contribuintes. Sem tratar da possível violação ao pacto federativo, uma solução jurídica seria a criação do IVA – imposto sobre valor agregado, com repartição de receitas entre estado e municípios, frente à reforma tributária.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
115
REFERÊNCIAS BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e Lei. São Paulo: Dialética, 2003. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS, 17ª ed., Editora Malheiros. 2015. MACEDO. Alberto. Licenciamento de software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do avança do conceito constitucional de mercadoria com bem imaterial e suas implicações na incidência do ISS, do ICMS e dos tributos federais. In Tributação de bens digitais: a disputa tributária entre Estados e Municípios. Notas sobre o Convênio ICMS 106/2017 e outras normas relevantes. Editora InHouse: 2018. MIGUEL. Luciano Garcia. O conflito de incidência do ISS e ICMS na tributação da nova economia. In Tributação de bens digitais: a disputa tributária entre Estados e Municípios. Notas sobre o Convênio ICMS 106/2017 e outras normas relevantes. Editora InHouse: 2018. SIQUEIRA NETO, José Francisco; NAGAO MENEZES, Daniel Francisco. Dicionário de Inovação Tecnológica. [organizado por] José Francisco Siqueira Neto e Daniel Francisco Nagao Menezes. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2020.
Capítulo 10 Parceria Público-Privada – PPP e Cidades Inteligentes Eduardo Stevanato Pereira de Souza
1. INTRODUÇÃO O tema, para além de concentrar dois assuntos extremamente atuais, conseguiu correlacionar dois elementos que são essenciais para o desenvolvimento sustentável de infraestrutura urbana, porque reúne um instrumento jurídico contratual robusto (Contrato de Parceria Público-Privada) – capaz de suportar importantes intervenções de infraestrutura –, e um conceito de prestação de serviços tecnológicos (inteligente) – capaz de otimizar as atividades públicas e gerar significantes alterações para melhorar os caóticos centros urbanos brasileiros. Para abordar com devida profundidade as possibilidades geradoras de desenvolvimento de infraestrutura urbana decorrentes dos contratos de parceria público-privada no ambiente de cidades inteligentes, faz-se necessário, primeiro, apresentar, ainda que de forma perfunctória, os contornos básicos tanto do instituto jurídico da Parceria Público-Privada (“PPP”) quanto do conceito de “Cidades Inteligentes”. 2. JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO NO PROBLEMA O Programa Nacional de Desestatização, regulado pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, foi recriado1 para atingir, entre outros, os seguintes objetivos fundamentais: (i) reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 1
O início da transferência pelo Poder Público de serviços públicos à iniciativa privada remonta ao ano de 1979, conforme explica Dinorá Adelaide Musetti Grotti: “A partir da década de 1980 iniciou-se um movimento inverso e várias empresas estatais ou áreas absorvidas pelo Estado foram transferidas para o setor privado; o regime de exploração dos serviços públicos sofreu alterações, admitindo-se a exploração em regime privado, por meio de autorizações, não mais apenas pelas clássicas concessões e permissões; introduzindo-se a gradativa competição entre prestadores, por diversos mecanismos, sujeitando-se tanto a regimes de regulação como às regras nacionais de defesa da concorrência.” (GROTTI, D. A. M. Parcerias na Administração Pública. In: FGUEIREDO, M.; PONTES FILHO, V. Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 248).
118
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; (ii) permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; e (iii) contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito. Para viabilização de seus objetivos, a Lei de Desestatização permitiu a alienação de empresas estatais, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; a licitação de projetos de concessão de serviços públicos; bem como a outorga de concessão de bens móveis e imóveis da União. A recente história mostra que o instituto da concessão de serviços públicos foi uma das ferramentas mais importantes no processo de desestatização brasileira, sobretudo pela intensidade com que foi utilizado pelos governantes brasileiros, mormente no âmbito Federal – nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns fatores contribuíram decisivamente para a ascensão do modelo jurídico da concessão na viabilização da desestatização determinada pela Lei nº 9.491/97, dos quais se destacam: (i) A transferência de obras e serviços públicos para empresas privadas por meio de um simples contrato administrativo (respeitada a necessidade de lei para as hipóteses que não estão previstas na Constituição Federal); (ii) A celebração pelo Brasil de acordos internacionais de redução de dívida pública externa e de exigência de superávit das contas públicas; (iii) A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitadora do poder de alavancagem das pessoas estatais; e
Fernando Vernalha Guimarães complementa dizendo que: “O Estado brasileiro iniciou seu movimento de privatização ao final de 1979, a partir da criação do Programa Nacional de Desburocratização. Embora esse processo não tenha apresentado resultados expressivos, arrastando-se por mais de dez anos com um saldo de apenas quarenta e seis empresas privatizadas, gerando valores inferiores a US$ 800 milhões, a iniciativa foi retomada no início da década de 90, com o lançamento do Programa Nacional de Desestatização (PND). Todavia, a ausência de planejamento (jurídico, sobretudo) adequado, aliada ao insucesso do plano de estabilização do governo federal (Plano Color), impediu resultados satisfatórios do Programa. [...] Somente a partir de 1995, sob um suficiente planejamento estatal, num movimento apoiado e seguindo pela maioria dos Estado-membros, com a criação inclusive de programas de desestatização locais, iniciou-se um efetivo e denso processo de privatização de empresas do Estado e de transferência da prestação direta de serviços à esfera privada, produzindo resultados surpreendentes.” (GUIMARÃES, F. V. PPP Parceria Público-Privada. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
119
(iv) A habilitação do Brasil a linhas de créditos internacionais para financiamento voltados a intervenções em infraestrutura. Diante desse cenário (sem desmerecer outros fatores também determinantes aos acontecimentos) e da situação fática de que, em regra, a construção, ampliação e reforma de infraestrutura pública demandam vultuosos investimentos financeiros, o contrato de concessão de serviço público e a alienação de empresas estatais tornaram-se os modelos jurídicos ideais para a concretização dos objetivos traçados pelo programa nacional de desestatização. 2.1. Parceria Público-Privada O contrato de concessão de serviço público mostrou-se adequado, basicamente, porque permite a transferência da responsabilidade pela gestão do serviço público à iniciativa privada – sem retirar a titularidade do Poder Público – por prazo suficiente para remunerar o investimento, o serviço da dívida, a operação e o lucro (longo prazo), com um regime jurídico específico e garantidor de segurança aos contratantes. Tais elementos podem ser extraídos da própria Lei de concessão nº 8.987/95, sobretudo nos seus arts. 2º, inciso III, 9º, 23ª, 27A, 28, 28A e 35. Quanto ao art. 2º, inciso III, a lei de concessão estabelece que a concessão de serviço público precedida de obra pública é “[...] a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado”. No momento em que o dispositivo legal (art. 2º, inciso III) prevê que a realização do serviço público será levada a efeito por conta e risco do contratado e que o investimento da concessionária será remunerado e amortizado pela exploração do serviço ou da obra, o que acaba ficando caracterizado é a transferência da responsabilidade pela gestão integral do serviço público e de sua infraestrutura para o contratante privado (podendo ser uma empresa estatal). Ainda no art. 2º, inciso III, é possível notar que a norma jurídica prevê que o contrato será por prazo determinado, não especificando nem o prazo mínimo, nem o máximo. Tal regulação perfaz mais um elemento importante de favorecimento ao contrato de concessão como instrumento jurídico relevante para proporcionar o desenvolvimento de infraestrutura, porque concede liberdade para o estudo de viabilidade econômica do projeto definir o prazo
120
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
necessário para sua implementação, operação e remuneração do investimento da concessionária. Com liberdade de definição de prazo, o contrato de concessão consegue suportar empreendimentos de vultuosos investimentos, porque pode estabelecer prazos de longa duração, suficientes para permitir que o concessionário explore a concessão pelo tempo necessário para pagar o financiamento e a operação do serviço, sem abrir mão da sua própria remuneração. O art. 9º também configura um excelente elemento de segurança jurídica ao contrato de concessão, haja vista que define que o preço do contrato é o valor da proposta vencedora, reforçando a regra de mercado prevista em nossa ordem econômica (art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal) de que as disputas estão submissas aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. O art. 23A, por sua vez, prevê a possibilidade de adoção de mecanismo privado de solução de conflito, inclusive a arbitragem, concedendo maior tecnicidade e agilidade na resolução das disputas, incentivando o setor privado a investir nos projetos. Além disso, os artigos 27A, 28 e 28A preveem fortes mecanismos de garantia para os financiadores e garantidores dos empreendimentos de concessão, como a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária, inclusive permitindo a disposição da propriedade das ações, a cessão de direitos emergentes e a cessão fiduciária de crédito da concessionária para os contratos de financiamento de longo prazo. Por fim, o art. 35 da Lei de Concessão traz as hipóteses de extinção do contrato, incluindo a rescisão por motivo de interesse público (encampação) e a rescisão por culpa da concessionária (caducidade). No que concerne à caducidade, verifica-se que a lei fez questão de regular um procedimento rígido de comprovação de descumprimento contratual, com a previsão de garantia de contraditório e ampla defesa prévios ao ato de rescisão, visando justamente diminuir a possibilidade de atuações políticas e conceder maior segurança jurídica ao concessionário e aos seus financiadores e garantidores. Ocorre que a concessão comum (regulada pela Lei nº 8.987/95) depende de empreendimentos autossustentáveis, assim considerados aqueles que são capazes de pagar os investimentos, as dívidas, a operação e a remuneração da concessionária apenas com os recursos advindos da exploração do serviço ou da obra, incluindo, obviamente, as receitas decorrentes de projetos associados2. 2
Lei nº 8.987/95: Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
121
Muitos serviços públicos são capazes de suportar empreendimentos de grande envergadura, como, v.g., saneamento, rodovias, portos, aeroportos, telecomunicações, energia elétrica, entre tantos outros. Por outro lado, não se pode olvidar que, por vezes, os mesmos serviços públicos que são, em regra, autossuficientes podem não ser em determinadas situações, quando, por exemplo, há uma demanda insuficiente de usuários ou outro fator que acabe inviabilizando a obtenção de receita em valor suficiente para suportar a necessidade de infraestrutura do projeto, ou mesmo pode haver situações em que pela própria natureza do serviço público não seja viável a instituição de tarifas aos usuários diretos, como acontece com os serviços de administração de presídio, gestão de estruturas da própria administração pública, entre outras. A Lei de Parceria Público-Privada foi criada justamente para atender as situações acima narradas, permitindo que o Poder Público complemente a remuneração da concessionária, quando as tarifas não forem suficientes para suportar o contrato (concessão patrocinada3), ou que o Poder Público se encarregue integralmente dos pagamentos contratuais, sem abrir mão do modelo jurídico da concessão (concessão administrativa4). Mesmo com uma série de alternativas legais, muitos projetos de infraestrutura urbana acabam se mostrando inviáveis justamente por exigirem demasiados recursos públicos, que são escassos, pelos motivos acima mencionados, entre outros. O conceito de Cidade Inteligente, no contexto dos contratos de Parceria Público-Privada, pode influenciar decisivamente na viabilização tanto de projetos que contam com uma participação pública muito intensa quanto daqueles que, apesar de serem viáveis, são extremamente custosos aos cofres públicos. 2.2. Cidade Inteligente Segundo Enrique Peñalosa (ex-prefeito de Bogotá), a expressão Cidade Inteligente pode ser definida como sendo a “[...] cidade que utiliza inteligentemente seus recursos”5. (PEÑALOSA, 2015, p. 33) 3
4
5
Lei nº 11.079/04: Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. § 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Lei nº 11.079/04: Art. 2º. [...] § 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. PEÑALOSA, E. FGV – Projetos. Cidades inteligentes e mobilidade urbana – Cadernos FGV Projetos, ano 10, nº 24, 2015. Disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/cadernos_fgvprojetos. Acesso em: 09 abr. 2020
122
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
É claro que a palavra “inteligente” do conceito acima definido está voltada ao uso da tecnologia, mais especificamente de recursos de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, Big Data e IoT – Internet das Coisas, no entanto a isso não se restringe, englobando também a ideia de replanejamento da cidade, no sentido de repensar suas funções e serviços, visando encontrar formas diferentes e eficientes de utilizar os recursos públicos para melhor atender aos seus usuários. É nesse sentido amplo de Cidade Inteligente (replanejamento da cidade) que serviços públicos deficitários podem se transformar em serviços rentáveis ou que serviços públicos inviáveis, sob a perspectiva econômica, de serem executados por meio de parceria público-privada tornam-se viáveis, permitindo a implantação de projetos que proporcionam tanto a construção de infraestruturas suficientemente robustas, quanto o desenvolvimento sustentável da cidade. Sabe-se que o Município, na figura de ente federado, reúne as competências administrativas para prestar os serviços de interesse local (art. 25 da Constituição Federal) e, nesse desiderato, executa especificamente os serviços de saúde, educação, administração de avenidas, ruas, logradouros e passeios públicos, iluminação pública, água e esgoto, manutenção de praças e parques, limpeza urbana, zeladoria, coleta de resíduos sólidos urbanos, transporte coletivo de passageiros e outros. 3. OPÇÕES DE POLÍTICA PROPOSTAS É fato que uma parte dos serviços públicos urbanos já é executada indiretamente pelos Municípios sob um regime jurídico de concessão comum ou de parceria público-privada, como, por exemplo, os serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, de água e esgoto e, excepcionalmente, de iluminação pública. Os demais serviços públicos não adotam o modelo de concessão ou parceria mormente por se mostrarem inviáveis economicamente, ou seja, são, em regra, extremamente custosos para construção, ampliação e reforma de suas infraestruturas e pouco ou nada rentáveis em suas operações, como são os casos dos serviços de saúde, educação e assistência social. A utilização de tecnologia agregada à ideia de replanejamento da cidade permite revisitar cada um dos serviços públicos urbanos, visando justamente encontrar formas mais eficientes e econômicas para executá-los, sem prejudicar, obviamente, a qualidade de sua prestação. A iluminação pública é um caso evidente desse fenômeno de replanejamento, com o uso da tecnologia. Até pouco tempo atrás, o serviço se resumia a um custo orçamentário, com uma infraestrutura extensa e onerosa, bem como uma operação extremamente exigente de mão de obra e insumos.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
123
Nas cidades que implementaram o modelo de Cidade Inteligente, o serviço de iluminação já possui sistema de remuneração por tarifa (COSIP – Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública), baseada em um mecanismo extrafiscal, que varia a tarifa de acordo com o local, finalidade e dimensão dos imóveis, bem como utiliza produtos tecnológicos, como a lâmpada de “led”, câmeras, dispositivo de rede de “wi-fi”, etc., e consegue ofertar serviços associados aos usuários, gerando novas receitas à concessão, o que minimiza sobremaneira os custos totais com a prestação do serviço, além, evidentemente, de melhorar a qualidade do serviço aos usuários. O serviço de iluminação pública é a prova de que o conceito de Cidade Inteligente agregado ao instrumento contratual da concessão ou da parceria público-privada podem proporcionar mudanças importantes no atual cenário da infraestrutura urbana e propiciar a implementação de projetos geradores de desenvolvimento social e econômico, sem prejudicar a qualidade dos serviços ofertados aos usuários, pelo contrário, a implementação de empreendimentos de concessão, em regra, ampliam a extensão do serviço e melhoram o padrão de qualidade de sua prestação. 4. RECOMENDAÇÕES Da mesma forma que passou com o serviço de iluminação pública, os serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, de coleta e aterramento de resíduos sólidos urbanos e de construção, ampliação e manutenção de passeios públicos são extremamente influenciáveis pelo conceito de Cidade Inteligente, conforme será demonstrado nos próximos subitens. 4.1. Serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus A tecnologia da energia elétrica, em breve tempo, substituirá os combustíveis fósseis que movem os ônibus do sistema de transporte coletivo de passageiros dos grandes centros urbanos, no entanto a sua concretização se mostra, atualmente, um tanto quanto custosa e, portanto, inviável economicamente. Com base no ideal de Cidade Inteligente, não se descarta a possibilidade de associar os serviços de transporte coletivo de passageiros com a construção e operação de centros de recarregamento de baterias elétricas tanto para os próprios ônibus do sistema de transporte, quanto para os proprietários de carros e caminhões elétricos. Tal projeto poderia fomentar a indústria automotiva, pelo aumento da demanda por veículos elétricos, incentivando a transformação das fábricas de carros, ônibus e caminhões, que atualmente se concentram na montagem apenas de veículos movidos à gasolina ou diesel, para montarem também veículos elétricos.
124
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Além disso, a construção de centros de abastecimento, agregados a outros serviços de conveniência, poderia gerar receitas assessórias para minimizar os custos da mudança de matriz energética do transporte coletivo. Tal replanejamento do serviço de transporte coletivo por ônibus pode tornar viável a implementação da tecnologia de energia limpa, invertendo, portanto, a lógica econômica atualmente existente. 4.2. Serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos O serviço de coleta e aterramento de resíduos sólidos é uma das atividades que mais tem gerado discussões no ambiente acadêmico mundial, uma vez que o modelo geralmente adotado pelos grandes centros urbanos é o de aterramento sanitário. Tal modelo, para além de ecologicamente inadequado, tem prazo de duração limitado, porque a produção de resíduos sólidos urbano é contínua e os aterros sanitários possuem volumes determinados. Ademais, o serviço de coleta e aterramento sanitário representa apenas uma despesa infinita para as cidades e não aproveita a capacidade de geração de receita do resíduo sólido urbano produzido. A tecnologia atual já consegue receber os resíduos sólidos urbanos, proceder a triagem e a separação de seus diferentes produtos, como, v.g., plástico, vidro, metal, material orgânico, etc., limpar, prensar, processar, reciclar e vender os itens reciclados como produtos novos. Pela capacidade de geração de receita, um empreendimento de coleta, transporte e reciclagem de resíduos sólidos urbanos se mostra completamente viável economicamente, sobretudo se a usina de triagem, processamento e reciclagem estiver localizada em uma região estratégica sob a perspectiva da logística. Indiscutivelmente, o modelo jurídico adequado para implantação de um empreendimento de reciclagem de resíduos sólidos urbanos é a parceria público-privada, simplesmente por se tratar de um contrato que consegue prever tanto a construção da usina, quanto a prestação dos serviços, além de conceder prazo suficiente para a concessionária amortizar o investimento da implantação da usina, pagar a operação e receber resultados pelos trabalhos realizados. Tem-se, portanto, que o serviço de coleta, transporte e aterramento de resíduos sólidos urbanos, replanejado pelo conceito de Cidade Inteligente, pode, de fato, inverter a lógica econômica de contratação atualmente existente, transformando a relação jurídica de despesa para a cidade e uma receita, tendo em vista, basicamente, a monetização dos resíduos.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
125
4.3. Serviço de construção, ampliação, reforma e gestão de passeios públicos As calçadas dos grandes centros urbanos, invariavelmente, apresentam problemas de espaço, de padronização, de depreciação, de nivelamento, de excesso de obstáculos, entre outros. É fato que alguns administradores municipais se preocupam mais com a calçada do que outros, porém, em todos os casos, a questão é extremamente complexa, porque a construção, ampliação, reforma e manutenção de calçada representa um despesa considerável à cidade e não possui, ao menos em tese, capacidade de geração de receita. A ideia de Cidade Inteligente visa justamente repesar a cidade de forma a encontrar soluções inteligentes para resolver os problemas aparentemente insolúveis. A nosso ver, a monetização da calçada é viável e pode ser concretizada por meio de um projeto de parceria público-privada. É fato que a calçada suporta diversos serviços públicos, como, por exemplo, a passagem de fios de alta tensão, telefonia, fibra ótica, entre outros, e que tanto a regulação quanto a gestão dessas servidões não estão sendo tratadas de forma adequada pelo sistema normativo e pelas autoridades públicas, respectivamente. Além disso, bares e restaurantes, quando possível, utilizam parte do passeio público para colocação de mesas e cadeiras, com a finalidade de ampliar suas instalações e melhor acomodar seus clientes. Ademais, não se nega que a energia elétrica, em breve tempo, substituirá os combustíveis fósseis que movem os automóveis que circulam na cidade, de forma que, pela própria lógica do tempo de recarga das baterias, fontes de recarregamento podem ser instaladas nos passeios públicos, configurando, portanto, mais um serviço de utilidade que pode ser suportado pela calçada. Nesse sentido, quanto mais utilidades são encontradas para uma calçada suportar, mais viável fica a possibilidade de sua monetização. A monetização poderia colaborar decisivamente com o custeio dos serviços de construção, ampliação, reforma e manutenção, bem como com a realização de desapropriações para melhor atender as necessidades da cidade. Os serviços de construção e manutenção de passeios públicos podem ser muito bem regulados por um contrato de concessão na modalidade de parceria público-privada, permitindo que o concessionário realize a manutenção dos passeios públicos e ainda preste serviços de natureza privada para melhorar ainda mais as suas receitas.
126
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
CONCLUSÃO O conceito de Cidade Inteligente não se resume ao emprego de tecnologia nos serviços da cidade, envolvendo também a ideia de repensar a integralidade dos fatores que influenciam a execução desses serviços. Para concretizar os projetos surgidos a partir do conceito de Cidade Inteligente, o sistema jurídico brasileiro oferece um rol de instrumentos contratuais e de regimes jurídicos de execução. Como os projetos de desenvolvimento da cidade envolvem, em regra, a construção de infraestrutura e a operação de equipamentos públicos, os contratos de concessão, sobretudo na modalidade de parceria público-privada, mostram-se excelentes instrumentos jurídicos para suplantar os empreendimentos, principalmente porque reduzem a exigência de recursos públicos no início da construção, evitando o endividamento da cidade, sem prejudicar a implementação das utilidades públicas em favor da coletividade. REFERÊNCIAS GROTTI, D. A. M. Parcerias na Administração Pública. In: FGUEIREDO, M.; PONTES FILHO, V. Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 248. GUIMARÃES, F. V. PPP Parceria Público-Privada. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. PEÑALOSA, E. FGV – Projetos. Cidades inteligentes e mobilidade urbana – Cadernos FGV projetos, ano 10, nº 24, 2015. Disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/cadernos_fgvprojetos_smart_cities_bilingue-final-web.pdf. Acesso em: 09 abr. 2020.
Capítulo 11 As Contratações das Inovações Tecnológicas pelo Poder Público Antonio Cecilio Moreira Pires
1. INTRODUÇÃO O desenvolvimento da tecnologia e das inovações está intimamente ligado com o tema das denominadas “cidades inteligentes”. Não estamos querendo dizer com isso que as cidades inteligentes dependam tão somente das inovações tecnológicas, isso porque se não houver uma interação entre estas e o cidadão, que, em última análise, são os usuários dos serviços públicos, todo e qualquer esforço empreendido não atingirá os seus objetivos. Em que pese tal fato, no presente artigo, vamos nos limitar a examinar a problemática das contratações, envolvendo as inovações tecnológicas à luz da Lei nº 8.666/93 que, embora possa trazer entraves consideráveis, se constitui no diploma legal que possibilita os ajustes públicos, inclusive no que diz respeito ao tema ora proposto. De plano, conveniente se faz registrar que, independentemente das características do objeto alvo da contratação, a regra sempre será a instauração de procedimento licitatório, pelo que as hipóteses de licitação dispensada, dispensável e inexigível se constituem em exceção a essa regra. 2. JUSTIFICATIVA É fato que a tecnologia caminha a passos largos. Doutra parte, também é notório que o direito deve acompanhar a realidade dos fatos, transformando, assim, o mundo do “dever ser”, modificando-se perante as alterações ocorridas no mundo do “ser”, promovendo, destarte, as necessárias mudanças de modo a propiciar a solução dos problemas existentes. Malgrado seja imprescindível que a dogmática jurídica venha a adaptar-se, conciliando-se com a realidade, isso não ocorre com a necessária celeridade, exigindo do jurista o enfrentamento de questões que são completamente novas, notadamente em se tratando de inovações tecnológicas.
128
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Ronaldo Lemos, em sua obra, ao examinar a questão da tecnologia e o direito autoral, faz percuciente observação: Por isso, se a tecnologia chamada peer to peer1, em que um computador compartilha com outros computadores, também conectados pela internet, arquivos protegidos por direito autoral, não cabe insistir no modelo de análise jurídica tradicional, de procurar no ordenamento jurídico posto as normas jurídicas aplicáveis a essa situação, sem qualquer precedente histórico. O que interessa é apreender todos os ângulos da questão, no sentido de que, ainda que as normas jurídicas aplicáveis sejam identificadas, sua eficácia resta gravemente comprometida por uma impossibilidade institucional do aparato adjudicante de conseguir fazer valer a aplicação de tais normas. Nesse sentido, inevitavelmente, devem-se considerar as transformações institucionais necessárias para que tal eficácia seja alcançada, ou considerar se faz algum sentido a manutenção dessas estruturas normativas tradicionais. Em outras palavras, a questão começa a tornar-se relevante quando se inicia a partir do ponto em que a chave é se a nova realidade deve adaptar-se ao velho direito ou se o velho direito deve adaptar-se à nova realidade.2
As ponderações do autor leva-nos a afirmar que o impacto das novas tecnologias se irradia pelo mundo do direito, chegando, inclusive, ao direito administrativo. Não obstante, a matéria aqui tratada exige dos administrativistas uma maior discussão com um aprofundamento da questão. Logo, importante se faz discutir a questão das inovações tecnológicas, demonstrando que, ainda que o direito positivo não tenha sofrido alterações significativas no que atine à instauração de licitação para a contratação de inovações tecnológicas, é perfeitamente possível atender às exigências do atual regramento, ainda que a Administração, no mais das vezes, contrate o objeto em questão mediante o instituto da licitação dispensável, como se esta fosse a regra das avenças públicas 3. OPÇÃO PROPOSTA: A IMPRESCINDÍVEL CONCEITUAÇÃO DA EXPRESSÃO “NOVAS TECNOLOGIAS” E O INTERESSE PÚBLICO A questão da conceituação da expressão “tecnologia”, ainda que para o leigo possa parecer questão de pouca relevância, não pode ser prescindida, eis que o mais basilar de todos os instrumentos do hermeneuta se constitui na “palavra”, ou como costumamos dizer em nosso magistério: a palavra tem força. 1 2
Par a par ou simplesmente ponto a ponto. LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 13 – grifos do autor.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
129
Thiago Marrara afirma que, diante das múltiplas possibilidades que se afiguram para a expressão “tecnologia”, as “novas tecnologias” podem ser compreendidas mediante dois prismas: i) conjunto de novas técnicas capazes de transformar a realidade; ou ii) conjunto de ciências que propiciam o desenvolvimento de novas técnicas.3 Ainda que as questões aqui suscitadas continuem a ser alvo das mais diversas e acaloradas discussões, a Lei 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnologia no âmbito produtivo, disciplina a questão conceitual da inovação, nos termos do art. 2º, inciso IV: IV – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.
Assim, imbuídos do conceito de novas tecnologias, e antes ainda de nos debruçarmos sobre a questão da contratação propriamente dita, a pergunta que se faz é aquela que aponta para o seguinte questionamento: onde reside o interesse público na contratação de novas tecnologias? Ao nosso ver, despiciendas maiores ilações para se concluir que a contratação das novas tecnologias se insere no campo da educação, saúde, transporte, segurança pública, entre outros. Enfim, em tese, estão abarcados pela necessidade da contratação de novas tecnologias todos os interesses públicos que devem ser curados pela Administração Pública, sem a exclusão de qualquer um deles. Em última análise, estamos tratando das inovações tecnológicas a favor do serviço público. 3.1. A licitação e a Constituição Federal Com efeito, a Constituição Federal em seu art. 22, inciso XXVIII, traz como competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, e para as empresas estatais, observado o art. 173, § 1º, inciso III.4 3
MARRARA, Thiago. Direito administrativo e novas tecnologias. RDA – Revista de Direito Administrativo. Belo Horizonte, ano 2011, nº 256, jan./abr. 2011. Disponível em: http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_pdf.aspx?i=78405&p=21. 4 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
130
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A União, no uso de sua competência privativa, fez publicar a Lei 8.666/93, aplicável aos contratos administrativos de obras, serviços, publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito das Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.5 Nesse sentido, dispensável maiores considerações para se chegar à conclusão que a contratação de inovações tecnológicas deve observar as regras e procedimentos disciplinados pelo Estatuto das Licitações, ainda que isso possa significar sérios entraves para a celebração da avença pública, consoante pretendemos abordar no presente artigo. 3.2. Licitação, princípio da legalidade e eficiência A licitação é procedimento administrativo extremamente complexo, constituindo-se em uma sucessão de atos administrativos interligados que deve, entre outros princípios, atender à legalidade, sob pena de anulação do certame. Cumpre-nos, entretanto, trazer a pelo o princípio da legalidade, no contexto do Estado Gerencial, norteado pelo princípio da eficiência. Nesse sentido, Irene Patrícia Nohara observa: Portanto, para uma melhor adequação do sentido jurídico da eficiência, faz-se necessária a adoção de um significado instrumental aos valores constitucio
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (...) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (...) Art. 173. (...) § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) II – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; 5 Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
131
nais, ponderado, portanto, como juízo de razoabilidade diante da sustentabilidade e da orientação do Estado para a efetividade do bem comum.6
A lição da jurista não deixa margem a duvidas que o direito, notadamente o princípio da legalidade, deve ser entendido no contexto da instrumentalidade, prestigiando-se a finalidade do instrumento normativo, materializando, assim, o princípio da eficiência. Que fique claro que não estamos a sustentar o menoscabo do princípio da legalidade, ou mesmo que a eficiência veio a mitigar a necessária legalidade dos atos e procedimentos administrativos. O que se demanda é que a legalidade seja revestida de um caráter finalístico e material. Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, a seu turno, ponderam a respeito do princípio da legalidade: Trata-se, simplesmente, de fazer coerente o sistema legal, que há de se supor que responda a uma ordem de razão e não a um casuísmo cego, o qual, de outra parte, está claro desde a doutrina geral do ordenamento que mais atrás, se expos (...)7
Para que não reste qualquer dúvida sobre a concepção do princípio da legalidade, temperada pelo vetor da eficiência: Não se trata de descumprir a lei, mas apenas de, no processo de sua aplicação, prestigiar os seus objetivos maiores em relação à observância pura e simples de suas regras, cuja aplicação pode, em alguns casos concretos, se revelar antitética àqueles. Há uma espécie de hierarquia imprópria entre as meras regras contidas nas leis e os seus objetivos, de forma que a aplicação daquelas só se legitima enquanto constituir meio adequado à realização destes.8
Com efeito, a finalidade da Lei deve ser cumprida, posto que se consubstancia no interesse público colimado. 3.3. É possível fazer licitação para inovações tecnológicas? A licitação, enquanto procedimento administrativo vinculado, tem por objetivo promover o desenvolvimento nacional sustentável, bem como escolher a 6
7
8
NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativo e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro. São Paulo, Atlas, 2012, p. 214. ENTERRIA, Eduardo Garcia de. e FERNÁNDEZ, Tomáz-Rámon. Curso de derecho administrativo. 4ª ed. V. I, 1998, p. 426. ARAGÃO, Alexandre Santos de Aragão. O princípio da eficiência. Revista de Doutrina da 4ª Região. Porto Alegre, nº 32, outubro, 2009. Disponível em: https://www.academia.edu/37676151/O_Princ%C3%ADpio_da_Efici%C3%AAncia.
132
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
melhor proposta para o contrato de seu interesse. A bem da verdade, a licitação tem por finalidade satisfazer uma necessidade da Administração Pública que, em muitos casos, repercute pela sociedade como um todo. Se assim for, em primeiro lugar, há que ser enfatizada a necessidade de se definir o objeto da licitação de forma detalhada, com todas as suas especificações, até porque a Lei de Licitações e Contratos, em seus arts. 6º, IX, 14 e 38, é cristalina ao dispor sobre a imprescindibilidade de especificar o objeto licitado em todos os seus detalhes, seja para obras, seja para serviços ou compras. Devemos atentar, no entanto, que o cumprimento do desiderato constante dos dispositivos sobrefalados não é tão simples de ser atingido, tendo em vista os múltiplos objetos contratados que demandam toda sorte de especialistas que, na maioria das vezes, não integram os quadros da Administração Pública. Em se tratando de tecnologia, mais complexa ainda se torna a atividade de especificar o objeto da licitação. Pedro Ivo Peixoto, examinando a questão do objeto da licitação na área da tecnologia, traça a problemática de especificar o objeto da licitação: Na área de tecnologia esse cenário é crítico e normalmente leva a administração pública a dois caminhos: ou há um enorme investimento de dinheiro público (pesquisas, consultorias, servidores) para mapear e especificar boas soluções de TI ou há um enorme déficit de eficiência administrativa pela incapacidade do órgão de mapear e especificar o que o mercado pode lhe oferecer. Sob a ótica do Princípio da Eficiência e dos deveres estatais perante a sociedade, os dois caminhos são consideravelmente questionáveis. O binômio “inovações e licitações” é o ápice dessa encruzilhada, pois a complexidade e o dinamismo das soluções inovadoras devolvidas pelo mercado não são capturáveis pelas tradicionais ferramentas jurídicas e operacionais dos processos licitatórios.9
Ora, se a contratação de tecnologia já encontra uma gama considerável de problemas e entraves, as inovações tecnológicas, que refogem da velha e cotidiana sistemática das licitações, tornam-se, ainda, mais complexas no que diz respeito à preparação do projeto básico que deve conter a definição do objeto com todas as suas especificações. Contudo, parece ser um senso comum a necessidade de alteração legislativa para tornar viável, ou melhor, mais fácil, a contratação das inovações tecnológicas. Deveras, é se de questionar: se a legislação não sofrer as tão sonhadas alterações, que caminho o Administrador deverá trilhar? Deverá, 9
PEIXOTO, Pedro Ivo. Contratação de soluções inovadoras pela Administração Pública: desafios e caminhos. Soluções Autorais. SLC n° 35, Ano 2# 17, Agosto 2019, p. 37. Disponível em: https://web. bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/18641/1/PRArt214894_Contratacao%20de%20solucoes%20 inovadoras%20administracao%20publica_P.pdf.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
133
simplesmente, esperar as alterações legislativas para então pensar na contratação das inovações tecnológicas? De certo que não! Por conseguinte, a propositura do presente artigo, como, aliás, já adiantando desde logo, não é trazer acirradas críticas ao atual Estatuto das Licitações e Contratos, mas simplesmente traçar o caminho, ainda que tortuoso, para se chegar à contratação das inovações tecnológicas, utilizando-se da regra, qual seja: a instauração de procedimento licitatório. A linha de pensamento que se deve percorrer é aquela que diz respeito à exigência legal de se definir, de forma conveniente, o objeto da licitação. Veja-se que esse caminho fatalmente levará o interprete a concluir que o objeto da licitação, ou seja, aquilo que se deseja contratar, é a inovação tecnológica para a resolução de determinado problema. Em outras palavras, concluímos que não há qualquer óbice jurídico que no projeto básico conste expressamente o problema que se pretende solver, abrindo a possibilidade de a iniciativa privada ofertar as eventuais e múltiplas soluções para a problemática constante do instrumento convocatório. Pedro Ivo Peixoto, ao examinar a fulcral decisão acerca da definição do objeto da licitação, afirma textualmente: Assim, um edital de licitação que especifique o problema e os resultados esperados com a contratação, e deixe o conhecimento e avaliação das soluções existentes no mercado para a fase externa é duplamente mais eficiente, por otimizar o esforço da fase interna e por aumentar exponencialmente a probabilidade de contratação da melhor solução disponível. Além dos benefícios econômicos, pode-se dizer que nessa sistemática há também um importante benefício intangível: maior transparência e participação social no processo de escolha da solução a ser contratada pela administração pública, visto que ela se dará num procedimento público e participativo.10
Pondere-se que o autor alerta que alguns procedimentos instaurados pela administração Pública foram realizados mediante licitação, na modalidade de concurso, configurado como um “desafio” para a iniciativa privada, no sentido de identificar a solução inovadora11, afirmando que a mais famosa dessas iniciativas foi o PitchGov do Governo do Estado de São Paulo.12 É evidente que a iniciativa do Governo do Estado de São Paulo é bastante louvável. Porém, nesse mesmo passo, forçoso é concluir que a hipótese de se escolher a melhor solução para dado problema, mediante a instauração de licitação na modalidade de concurso, não se constitui na melhor hipótese para 10
12 11
PEIXOTO, Pedro Ivo. Op, cit. p. 38. PEIXOTO, Pedro Ivo. Op, cit. p. 38. PitchGov se constitui em uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e startups para gerar inovações para o setor público. Disponível em: http://www.pitchgov.sp.gov.br/.
134
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
resolver a questão, posto que será necessária a instituição de procedimento distinto para a promoção da contratação da inovação tecnológica pretendida que, no caso do PitchGov, deverá ser estudada caso a caso. Não é essa a nossa ideia. Para nós, nada impede a instauração de licitação nos moldes tradicionais, sendo possível lançar mão do procedimento licitatório da concorrência, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.666/93, que tem ampla publicidade, permitindo, assim, atingir o maior número de empresas interessadas.13 Calha aqui lembrar que optamos pela concorrência, e não pregão, em razão de nosso entendimento quanto à impossibilidade jurídica de se adotar essa última modalidade de licitação, que deve ficar circunscrita à contratação de bens e serviços comuns, que refogem à órbita das inovações tecnológicas. De outra parte, para viabilizar a licitação, a melhor hipótese que se afigura é escolher o tipo de licitação técnica e preços, nos termos do art. 45, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, na fase de julgamento das propostas técnicas, far-se-iam os testes necessários para se aferir qual seria a melhor solução para o problema constante do instrumento convocatório.14 Continuando, por força do art. 46, § 2º, do diploma legal das licitações, deverá a Administração estabelecer no edital os critérios objetivos para a aceitação da solução ofertada pelos licitantes partícipes, por força do princípio do julgamento objetivo, tal qual deve acontecer quando a Administração optar por fazer os concursos, denominados corriqueiramente de “desafios”.15 13
Art. 22. São modalidades de licitação: I – concorrência; 14 Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. § 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: (...) III – a de técnica e preço. 15 Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (...) I – serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
135
Uma vez identificadas as melhores soluções, a Comissão de Licitações16 deverá promover uma classificação a partir da melhor solução e, finalmente, abrir o envelope de preços, promovendo o final julgamento na forma do instrumento convocatório. Verifique-se, assim, que, embora a instauração do procedimento licitatório seja complexa, é juridicamente possível promover a contratação com a utilização da regra da licitação. O que se percebe é que as startups, que normalmente se constituem nas empresas que se interessam em ofertar inovações tecnológicas, encontram algumas dificuldades com a legislação que rege a matéria. Pari passu, do outro lado há uma dificuldade do Poder Público em desenhar seu objeto naquilo que diz respeito ao problema identificado e à solução esperada. 4. CONCLUSÃO Não há que se discutir que a legislação de licitações e contratos não contemplou qualquer alteração que pudesse facilitar a contratação das inovações tecnológicas mediante a instauração de procedimento licitatório. Nesse mesmo passo, ainda que a Administração tenha realizado essas contratações mediante licitação dispensável, isso não pode ser encarado como regra. Ao contrário, qualquer uma das excludentes da licitação deve ser considerada excepcionalidade, que somente poderá ser utilizada em determinados casos, até porque o atual instrumento normativo permite a contratação das inovações tecnológicas, sendo necessário apenas um exercício de interpretação. Em síntese, deve a Administração contemplar a problemática existente no instrumento convocatório, e a possibilidade da iniciativa privada ofertar as soluções para o caso, processando-se a licitação, com a utilização da modalidade de concorrência do tipo técnica e preços, com especial atenção para as especificações técnicas que devem ser desenvolvidas de modo a terem como centro o problema que reclama solução e o que se espera enquanto resultado. (...) § 2o Nas licitações do tipo «técnica e preço» será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório: I – será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; II – a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 16 O ideal é que a Administração instaure uma Comissão Especial de Licitações, com técnicos aptos a para o julgamento da inovação tecnológica proposta, podendo, para tanto, convidar representantes da sociedade civil ou de órgão de classe.
136
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
REFERÊNCIAS ARAGÃO, Alexandre Santos de Aragão. O princípio da eficiência. Revista de Doutrina da 4ª Região. Porto Alegre, nº 32, outubro, 2009. Disponível em: https://www.academia.edu/37676151/O_Princ%C3%ADpio_da_ Efici%C3%AAncia. ENTERRIA, Eduardo Garcia de.; FERNÁNDEZ, Tomáz-Rámon. Curso de derecho administrativo. 4ª ed. V. I, 1.998. LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. MARRARA, Thiago. Direito administrativo e novas tecnologias. RDA – Revista de Direito Administrativo. Belo Horizonte, ano 2011, nº 256, jan./abr. 2011. Disponível em: http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_pdf.aspx?i=78405&p=21. NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativo e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. PEIXOTO, Pedro Ivo. Contratação de soluções inovadoras pela Administração Pública: desafios e caminhos. Soluções Autorais. SLC nº 35, Ano 2# 17, Agosto 2019, p. 37. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/ bitstream/1408/18641/1/PRArt214894_Contratacao%20de%20solucoes%20inovadoras%20administracao%20 publica_P.pdf.
Capítulo 12 Inovação e Segurança: Proposta de Metodologia para o Monitoramento e Análise de Atividades Criminosas Organizadas no Estado de São Paulo Fábio Ramazzini Bechara Leandro Piquet Carneiro
INTRODUÇÃO Este artigo apresenta uma proposta de construção de indicadores para o monitoramento e a análise de atividades criminais organizadas no Estado de São Paulo1. A ocorrência de crimes graves e a presença do crime organizado tornaram-se temas dominantes na agenda da segurança pública de São Paulo na década atual. Essa mudança tomou forma no mesmo período em que novas tecnologias de informação e de comunicação passaram a ser utilizadas em larga escala no sistema de segurança pública. Esses processos concomitantes trouxeram para o centro do debate sobre o trabalho de polícia o problema da organização da atividade de inteligência e a análise criminal baseada em evidências2. O Estado de São Paulo apresentou avanços importantes nas últimas duas décadas no que diz respeito ao uso de novas tecnologias de informação e de comunicação e de criação de órgãos e departamentos especializados no controle do crime organizado, como a institucionalização do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública (CIISP) e do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, o que permitiu avançar na integração dos sistemas de inteligência e na coordenação de operações com foco na criminalidade organizada do estado. A organização desses novos centros integrados contribuiu ainda para fomentar 1
2
Os resultados apresentados neste artigo têm por base a pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto n. 60.857/2014. O acesso aos dados do INFOCRIM foi facultado pelo Decreto e contamos com a colaboração do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a confecção dos mapas e organização dos dados. SHEPTYCKI, J. (2004), “Organizational Pathologies in Police Intelligence Systems some Contributions to the Lexicon of Intelligence-Led Policing”, European Journal of Criminology, vol. 1 no. 3 307-332.
138
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
uma cultura de compartilhamento de informações entre as polícias e outros órgãos do sistema de justiça. Nas seções seguintes apresentamos uma proposta de construção de indicadores dedicados a monitorar os nichos e distribuição espacial das atividades criminais organizadas com base em informações extraídas dos registros de ocorrência disponíveis no sistema INFOCRIM. 1. NOTAS CONCEITUAIS SOBRE CRIMINALIDADE ORGANIZADA A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 5.015/2004, definiu grupo criminoso organizado como o grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando deliberadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. Entenda-se por infrações graves nos termos da Convenção todo ato que constitua infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior. Segundo a INTERPOL, crime organizado consiste no cometimento de atos criminosos graves sistematicamente preparados e planejados, a fim de obter lucros financeiros e poder envolvendo mais de três cúmplices unidos hierarquicamente em estruturas com divisão de trabalho, nos quais são utilizadas diferentes formas de violência, intimidação, corrupção, ou outras formas de influência. A Lei n. 12.850/2013 definiu como organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. Na crescente literatura sobre crime organizado é possível reconhecer dois caminhos principais que orientam o esforço de mapeamento e diagnóstico da atuação de grupos criminosos organizados ou organizações criminosas. O primeiro deles coloca foco na organização criminosa; suas características elementares, estrutura organizacional, divisão de tarefas, hierarquia, entre outros3. Esse foi o caminho seguido nas primeiras iniciativas contra a máfia, 3
Nesse modelo de análise, todo o esforço concentra-se na identificação dos grupos criminosos existentes com vistas à responsabilização dos seus integrantes, o que invariavelmente não se mostra efetivo, tendo em vista as deficiências na legislação criminal Brasileira para o fim de desarticular os referidos grupos. Não se ignora, por óbvio, a existência e atuação de tais grupos, os quais se utilizam de qualquer ambiente de oportunidade para prover e viabilizar as suas atividades ilegais.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
139
principalmente nos EUA . O segundo caminho, por sua vez, dirige seu foco para as atividades ilícitas e suas externalidades. No primeiro caminho, identifica-se a organização e chega-se às atividades ilícitas às quais a organização se dedica. No segundo caminho, adotado no presente artigo, identifica-se a atividade ilícita e a partir daí chega-se à organização ou organizações que realizam essa atividade. Tendo em vista esse objetivo, foram construídos e analisados indicadores quantitativos sobre a atuação do crime organizado no Estado que indicam uma nítida distribuição do fenômeno (Mapas 1 e 2) e qual espera-se que, uma vez identificada, poderá servir ao planejamento de operações e ações de inteligência. O Estado de São Paulo (a exemplo das demais Unidades da Federação) tem recursos que se integrados poderão permitir uma gestão de alto nível do problema do crime organizado, com base em indicadores quantitativos e com sistemas de alerta e de monitoramento, tanto da presença dessa forma de crime quanto das ações repressivas desencadeadas pelas forças de segurança pública. O sistema de indicadores aqui proposto tem a vantagem de ser complementar e específico com relação ao proposto na Lei Complementar 1.245, de 2014 (Estrado de São Paulo), que estabeleceu a bonificação por resultados para as polícias e o sistema de metas de desempenho. 4
2. A LÓGICA DE ATUAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DE SÃO PAULO A presença difusa do crime organizado em São Paulo manifesta-se pelo reconhecimento de atividades ilícitas como tráfico de armas e drogas, roubo a bancos e de cargas, biopirataria, contrabando de produtos falsificados e tráfico de pessoas que não se limitam às divisas estaduais, nem às fronteiras nacionais. Há também extensas ramificações do crime organizado no comércio legal, no setor de serviços, incluindo os serviços financeiros, na burocracia estatal, nas polícias e na política. Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de se buscar novas formas de organização, operação e articulação das forças de segurança, principalmente na integração entre os sistemas de inteligência e informação das polícias, dos órgãos de controle interno, do Ministério Público, entre outros, com vistas a permitir a gestão estratégica do problema. Experiências internacionais demonstram que é muito importante tentar desarticular o poder de organizações criminosas nos seus estágios iniciais de expansão, antes que o custo financeiro e social das intervenções aumente exponencialmente. A necessidade de integração entre forças estaduais, incluindo 4
Naylor, R.T. (2004). Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, Cornell University Press, Ithaca, Revised Edition.
140
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
polícias e outros braços do poder público, é uma variável crítica nas ações contra o crime organizado. Os constantes conflitos de competência e jurisdição e a falta de compartilhamento de informações são problemas que precisam ser diretamente enfrentados pelas agências públicas diante da atuação dos grupos criminais organizados. O sistema de indicadores sobre a presença do crime organizado aqui proposto pretende contribuir para atingir os seguintes objetivos: 1) facilitar a troca de experiências entre os diversos órgãos que se relacionam direta ou indiretamente com a problemática; 2) aumentar o conhecimento sobre o problema; 3) evitar a duplicação de trabalho entre as instituições. Para superar essas dificuldades foram dados passos importantes, como a criação do CIISP, da Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado e do CICC, assuntos que serão avaliados em uma seção específica a seguir. A construção de um sistema de indicadores sobre a presença do crime organizado no Estado é uma das principais recomendações do presente artigo e requer, em primeiro lugar, o levantamento e organização de dados estatísticos confiáveis e comparáveis sobre o fenômeno e que possam ser convertidos em indicadores capazes de demonstrar a evolução longitudinal e espacial do problema e proporcionar, dessa forma, decisões (sobre táticas de policiamento, operações, linhas de investigação, estratégias de comunicação) integralmente baseadas em evidências. 3. EVIDÊNCIAS SOBRE A PRESENÇA DO CRIME ORGANIZADO EM SÃO PAULO Há um diagnóstico compartilhado pelas principais agências internacionais de monitoramento do crime organizado de que o impacto desse problema tem aumentado em função da crescente diversidade dos métodos ilícitos empregados e da flexibilidade, também crescente, de suas estruturas organizacionais. Não faltam exemplos, mesmo em países com baixos níveis de criminalidade como os da União Europeia, de que organizações criminosas são hoje capazes de atuar de forma minimamente coordenada em diferentes jurisdições e em diferentes setores criminais. O portfólio de negócios ilícitos das organizações criminosas na Europa inclui até mesmo operações com crédito de carbono. O relatório da EUROPOL de 2011 sobre a ameaça do crime organizado no continente (OCTA, 2011) destaca a participação dos grupos criminais organizados brasileiros na Europa, uma vez que o país encontra-se entre os quatro países com as maiores taxas de recusa de vistos de entrada. As organizações criminosas brasileiras têm atuado como facilitadores da imigração ilegal para a Europa e no envio de cocaína via Península Ibérica.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
141
Esses movimentos transnacionais do crime organizado são potencializados pela rápida redução dos custos de comunicação, em particular pelo uso ilícito da Internet. No contexto específico do estado de São Paulo é possível afirmar que os principais mercados de produtos e serviços ilícitos são operados por diversos grupos criminais, sendo a facção criminal PCC um desses grupos. Há evidências de que também atuam no estado as facções criminais cariocas, que trazem armas e drogas; os grupos especializados em roubo de veículos, que têm fortes conexões com outros países do Mercosul onde ocorrem os desmontes de veículos roubados em São Paulo (parte das peças retorna para São Paulo para revenda), ou o licenciamento com documentos falsos; os grupos que operam com explosivos e armas mais sofisticadas e os vendem ou alugam para outros criminosos, inclusive fora do estado; as quadrilhas de roubo de joias e residências; os grupos especializados em crimes eletrônicos e “roubo de identidade” que alimentam o mercado de venda de bases de dados; e os lavadores de dinheiro profissionais, que se valem de complexas redes de relacionamento com negócios formais, principalmente postos de combustível e pequenos comércios. Grandes depósitos de armas e drogas foram detectados na Região metropolitana de São Paulo em 2013, nos municípios de Juquitiba e São Bernardo do Campo. Parte importante dos carregamentos de pasta base de cocaína e de armas com origem nos países andinos e da maconha vinda do Paraguai é transportada e fica estocada em São Paulo, mesmo que o destino final seja o Rio de Janeiro ou outros estados do país. A existência de depósitos seguros permite negociar preço com distribuidores locais sem o risco de perda da mercadoria, buscar alternativas de distribuição, ‘batizar’ (fazer misturas com produtos semelhantes, como adicionar talco ou fermento na cocaína) para enfim distribuir rapidamente o produto valendo-se da ampla conexão rodoviária do Estado com o restante do país. Recentemente, o Laboratório de perícia da Polícia Federal de Brasília analisou amostras de cocaína apreendidas na Região Metropolitana de São Paulo e atestou o seu alto teor de pureza, o que pode ser entendido como uma evidência de que a droga chega como pasta base em São Paulo e posteriormente é distribuída pelo país. Levando-se em conta a forma como se organiza a cadeia logística da produção e distribuição da cocaína, o transporte de pasta base parece ser a forma mais vantajosa de se transportar grandes quantidades de drogas (sempre que houver extensa conexão rodoviária e terrestre como é o caso de São Paulo), uma vez que a produção de pasta base nas regiões de plantio da coca tem baixo custo e requer poucos insumos. Já o refino de cocaína é mais custoso e requer maior quantidade de insumos, o que pode ser obtido de forma mais
142
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
fácil em São Paulo. A pureza da droga apreendida em São Paulo indica que as estruturas de refino estão se deslocando para o Estado e principalmente para sua região metropolitana. Com efeito, ainda, São Paulo tem se convertido em um polo de atração de imigrantes de países vizinhos, da África e Ásia. A dinâmica demográfica facilita a presença de grupos organizados que se dedicam a promover a entrada no país de imigrantes ilegais. Esses grupos, a exemplo do que ocorre na Europa, são relativamente pequenos e isolados e apresentam fortes conexões étnicas com seus “clientes”. Imigrantes ilegais são geralmente recrutados por facilitadores do mesmo grupo étnico que ao longo da rota de imigração se articulam a outros grupos locais que fornecem serviços como abrigo e facilitação para o acesso ao próximo estágio da rota. Os grupos que operam no mercado de imigração ilegal desenvolvem outras atividades ilícitas associadas, como a exploração sexual, trabalho escravo, contrabando de produtos. O fluxo migratório internacional destinado a São Paulo, embora seja extremamente positivo do ponto de vista econômico e cultural, pressiona negativamente a segurança pública. É possível identificar a operação dos seguintes grupos na Região Metropolitana de São Paulo: • bolivianos e paraguaios, que operam contrabando, tráfico de drogas (maconha e pasta base), armas, pessoas e veículos roubados, além de formarem gangues de “autodefesa” nas periferias da Capital; • nigerianos, que operam o tráfico de cocaína e de pessoas com destino à Europa; • indianos e paquistaneses que operam o tráfico de pessoas do norte da África e Oriente Médio, para os EUA, e que utilizam São Paulo como um de seus hubs de entrada no continente com destino à América Central; nessa rede também operam tráfico de drogas sintéticas e estrutura financeira e logística, potencialmente conectada a organizações terroristas internacionais; há grupos organizados na Capital, no Vale do Paraíba e na região de Presidente Prudente. • libaneses, que operam redes de lavagem e contrabando de dinheiro, as “hawala”, a partir de SP, e grupos de tráfico de armas, originadas do leste europeu e Oriente Médio; • máfias orientais, especialmente coreanos e chineses, focados no tráfico de pessoas e contrabando proveniente do Paraguai e do Porto de Santos (produtos chineses), funcionam principalmente como intermediários entre o importador e o varejista de contrabando; • máfias “tradicionais” europeias, principalmente a espanhola, a italiana e a do leste europeu, focadas no tráfico de pessoas e cocaína (ida) e tráfico de drogas sintéticas (retorno), entre outros grupos minoritários.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
143
A operação “Wei Jin” realizada pela Polícia Federal mostrou a conexão entre as operações de contrabando de produtos contrafeitos da China para São Paulo realizadas por Li Kwok Kwen e a imigração ilegal da China para o Brasil. Devido à condição de imigrantes ilegais, muitas famílias de bolivianos e chineses residentes em São Paulo não possuem conta corrente em bancos, e por isso têm sido vítimas constantes de criminosos que buscam dinheiro em suas casas, o que tem gerado a formação de grupos de autodefesa, gangues, que a exemplo do que aconteceu nos EUA perdem rapidamente sua característica de grupo de autodefesa e passam a operar também em atividades ilícitas que vitimam a própria comunidade à qual estão ligadas, como a exploração sexual e o tráfico internacional de pessoas. A PMESP abordou em 2012, em Araçatuba, um grupo de nacionais de Bangladesh com destino a Brasília. Os Bengalis, vítimas do tráfico de pessoas, rumavam para Brasília, após estadia em São Paulo, e foram abordados na estrada pela Polícia Militar Rodoviária. Em Brasília, a Polícia Federal fechou um entreposto de trabalho escravo e de tráfico de pessoas especializado no tráfico de pessoas de Bangladesh provavelmente com destino aos EUA. Essas informações confirmam o papel relevante do Estado de São Paulo para a operação das redes do crime organizado em escala local, nacional e mesmo transnacional e justificam a importância de se analisar e monitorar o problema de forma contínua no âmbito do sistema de segurança pública. No próximo item, apresentamos a metodologia proposta para a construção dos indicadores que permitirão monitorar e produzir informações destinadas à gestão e ao planejamento de operações e ações de inteligência contra o problema. 4. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES SOBRE A PRESENÇA DO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO O sistema de segurança pública se organiza como um sistema aberto com mecanismos de input e de trocas com o ambiente social circundante que não podem ser integralmente controlados por seus gestores. Em sistemas fechados de gestão, as trocas da organização com o ambiente circundante são controladas, sendo possível estabelecer uma clara distinção entre a organização e seu entorno. Nesses sistemas, os indicadores de desempenho são relativamente mais simples de serem desenhados, já que tanto os inputs quanto os outputs do processo produtivo são limitados e predefinidos. Em sistemas abertos, como o sistema da segurança pública, existe maior flexibilidade no que diz respeito aos indicadores que devem ser monitorados, já que não estamos falando de uma única organização, mas de um conjunto de
144
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
instituições que estabelecem relações relativamente abertas umas com as outras e com os stakeholders externos. Embora as polícias de São Paulo tenham demonstrado capacidade de reduzir as taxas dos crimes mais graves de forma significativa ao longo da última década5, resta o desafio representado pela presença e pelo aumento da atuação do crime organizado. Existem fartas evidências de que as formas mais graves de crime contra a pessoa e contra o patrimônio no Estado de São Paulo estão estáveis (embora em patamares ainda altos) ou tiveram queda ao longo da última década, mas persiste o problema da percepção de crimes violentos e de alto impacto, como os que são perpetrados por organizações criminosas. Esses crimes geralmente têm grande impacto na percepção do público e contribuem na formação da sensação de insegurança que tem afetado a estabilidade das políticas de segurança seguidas pelo Estado. Os indicadores que serão desenvolvidos têm por base a ideia de que as diferentes táticas que podem ser empregadas na execução dos serviços de policiamento ostensivo e de polícia judiciária são afetadas por problemas específicos, os quais serão alvo de novas análises funcionais como o objetivo de se produzir projetos e planos de ação voltados para as causas desses problemas. Os indicadores propostos permitirão, portanto, estabelecer uma relação entre um conjunto de problemas localizados no âmbito do sistema de segurança pública e suas causas imediatas. A hipótese subjacente é de que o sistema de segurança pública em São Paulo basicamente cumpre com as funções para as quais foi projetado, mas esporadicamente fatores específicos causam perda significativa de eficiência do sistema, sendo a presença do crime organizado em determinadas áreas e atividades a principal causa identificada para o seu mau funcionamento. O Quadro 1 ilustra a contribuição potencial dos indicadores propostos. A conjugação entre os três “níveis de desempenho” do sistema (política pública, ações táticas e operações) e os três “níveis de monitoramento” (meta, projeto e gerenciamento) permite visualizar as nove variáveis de desempenho que serão acompanhadas por diferentes agentes6.
5
6
O Estado de São Paulo aproxima-se da taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Em 1999, a taxa era de 35,27/100 mil. Falconi, V. (2009), O Verdadeiro Poder: práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários, INDG, p. 36.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
145
QUADRO 1 Variáveis de Desempenho em um Sistema Aberto
No nível da política pública (primeira linha no Quadro 1), ou da formulação estratégica, são definidos quais os problemas criminais que serão prioritariamente controlados e as metas quantitativas de redução. Em São Paulo, desde 1999, os crimes contra a pessoa têm sido priorizados, sendo a taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes, parâmetro internacional de avaliação de violência, o principal indicador utilizado. As metas, os projetos e o gerenciamento nesse nível estão devidamente incluídos na Lei Complementar nº 1.245, de 27 de junho de 2014. As ações no nível tático são ações policiais, como prisões e apreensões de armas, drogas, contrabando entre outras, que devem ocorrer para que as metas estratégicas de redução das taxas de crime no Estado sejam atingidas. O nível próprio de formulação e de validação de metas, projetos e de instrumentos de gestão são as unidades estratégicas das polícias, como as unidades de inteligência, as coordenadorias operacionais, os “grandes comandos” e Divisões. Funções que no sistema fechado de uma organização privada, por exemplo, são desempenhados por gerentes de processos. Trata-se da definição dos parâmetros e da “quantidade de esforço” que cada unidade operacional terá que cumprir para que as metas das políticas públicas (as reduções pretendidas nas taxas de crimes) sejam cumpridas. Os índices de gestão no nível tático devem ser elaborados “sob medida” para cada tipo de atividade policial, por exemplo: metas aumento anual/mensal de percentual de esclarecimento de homicídios e criminosos descobertos (para a Polícia Civil); aumento do número de armas apreendidas e de presos em flagrante (para a Polícia Militar). Ainda que a incidência criminal deva ser considerada na avaliação da eficiência do policiamento e da investigação nas subunidades das polícias, pode ser muito útil separar quais homicídios dolosos são mais diretamente controlados pelo policiamento/investigação. Por exemplo, os homicídios com motivação passional (entre marido e mulher, familiares, amigos e conhecidos) são muito diferentes dos
146
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
que ocorrem durante um roubo. Sem levar diferenciações desse tipo em conta, perde-se a especificidade dos processos (os aspectos próprios de cada tipo de atividade de policiamento e investigação) que devem ser melhorados. A utilização apenas de indicadores estratégicos, como as taxas de crimes desdobrados para subunidades das polícias, pode provocar desestímulos nos níveis intermediários do sistema, pois não contempla o esforço tático específico e necessário para o atingimento da meta estratégica. Entretanto, principalmente, no caso de São Paulo, devido à presença do crime organizado, o sistema de metas estratégicas, sem a devida complementação com metas táticas e de operações, não estimula as ações policiais contra os crimes que mais afetam a percepção de insegurança no público (crimes de alta complexidade, violentos, com explosivos, etc.). Em resumo, a proposta é desenvolver um conjunto de indicadores quantitativos de natureza “gerencial” que permita mensurar as ações e a “produção” das polícias, dada a meta estratégica estabelecida. Esses indicadores devem priorizar os tipos específicos de crimes que podem ser diretamente controlados pelas polícias e que refletem a presença do crime organizado nas suas várias formas e modalidades. O sistema de indicadores proposto irá contribuir para que as polícias do Estado possam obter reduções rápidas e sustentáveis nas taxas de crime no curto prazo, dado que os recursos de policiamento e investigação serão empregados justamente nos focos onde formas recalcitrantes de criminalidade tendem a se perenizar devido ao complexo sistema de relações que estabelecem com a sociedade e mesmo com as instituições policiais locais. 4.1.1. Definição operacional dos indicadores Foram levados em consideração os seguintes elementos no processo de construção dos indicadores: (1) as características de interesse do fenômeno criminal que seriam medidas; (2) a possível utilização na definição de metas e no monitoramento das ações das polícias; (3) em seguida os indicadores foram identificados e avaliados levando-se em conta características de interesse; (4) por fim foi realizado um teste empírico dos indicadores e procedeu-se a escolha do conjunto final (apresentado no item V.2). Os indicadores quantitativos propostos são apresentados no Quadro 2.1 e 2.2 a seguir e procuram medir duas dimensões básicas: (1) a presença do crime organizado em localidades específicas do Estado (análise feita no nível das delegacias); e (2) as atividades policiais destinadas ao seu controle (apreensões, prisões, etc.). Essas duas dimensões desdobram-se em quatro eixos analíticos: (1) Crimes letais cujo o modus operandi, as circunstâncias do crime ou as características das vítimas indicam atuação de grupos e quadrilhas organizadas. Por exemplo, homicídios decorrentes do atrito entre grupos organizados de
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
147
diferentes tipos (quadrilhas de assaltantes, facções ou grupos de extermínio de policiais), atuação de grupos de extermínio policial, principalmente em situações de confronto armado entre policiais e criminosos; homicídios perpetrados contra agentes do sistema de justiça criminal, homicídios relacionados à ocorrência de roubos e furtos, segundo o tipo de roubo ou furto; (2) Crimes economicamente motivados que por sua complexidade e sofisticação operacional estão associados à atuação de quadrilhas e grupos organizados. São exemplos, o roubo de banco e de carga, a receptação de produtos de alto valor, roubos e furtos de joalherias, residências de alto nível, de obras de arte, de veículos de luxo e de grandes estabelecimentos comerciais e similares; (3) A cadeia logística do transporte, beneficiamento (refino no caso da cocaína), armazenamento e venda no varejo de qualquer tipo de droga ilícita; (4) Crimes de alta sofisticação operacional a lavagem de dinheiro e a exploração de caça-níqueis e com indícios de transnacionalização (crimes perpetrados por estrangeiros). Os quadros 2.1. e 2.2 a seguir apresentam os indicadores aqui propostos para que sejam produzidos de forma contínua e apurados trimestralmente. O Quadro 2.1 exibe os indicadores que foram construídos com as informações disponíveis na Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria do Estado de Segurança Pública (CAP), Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública (CIISP) e o Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CI-PM). A primeira coluna dos Quadros 2.1 e 2.2 apresenta uma descrição sumária do conteúdo do indicador e em seguida são exibidas as fontes de informação utilizadas, o status atual do indicador (se já disponível ou não na base), as recomendações de melhoria (na coleta, organização e produção da informação) e a justificativa sobre a relação entre o indicador e o fenômeno da criminalidade organizada. O Quadro 2.2 expõe os indicadores que não foram ainda construídos devido à falta de informações organizadas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Recomenda-se, no entanto, que sejam adotadas melhorias no processo de coleta e organização de dados com vistas a permitir a produção dos 29 indicadores e sua utilização no processo de gestão da segurança pública e no planejamento das ações contra o crime organizado no Estado. Os dados necessários para a construção desses indicadores são ordinariamente coletados e estão disponíveis em diferentes sistemas das polícias Civil e Militar do Estado, mas até o momento não são analisados sistematicamente ou correlacionados com o objetivo de permitir identificar novos tipos de atividade criminal, o modus operandi de grupos e quadrilhas e para estabelecer tendência futuras e cenários de atuação de grupos em seus respectivos mercados ilícitos. Outra recomendação importante é a proposta de incorporação desses indicadores no painel de gestão permanente da Secretaria de Segurança Pública.
Sim
Sim
Sim
Corregedorias de Polícia e Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) idem
idem
Centro de Inteligência da Policia Militar (CIPM)
Centro de Inteligência da Policia Militar (CIPM)
Número de Policiais estaduais mortos em serviço
Número de Policiais estaduais mortos em folga
Número de policiais estaduais vítimas de latrocínio
Ocorrências de chacinas
Número de vítimas fatais em ocorrências de chacinas
1
2
3
4
5
Sim
Sim
Disponível no Banco de Dados
Principal fonte de informação
Indicadores
#
idem
idem
Completar com outros agentes públicos (promotores, agentes penitenciários, fiscais e guardas municipais)
Recomendação de melhoria
Crime tipicamente associado a atuação de quadrilhas, grupos criminais organizados e grupos de extermínio.
Crime tipicamente associado a atuação de quadrilhas, grupos criminais organizados e grupos de extermínio.
Indicador de natureza complementar que permite avaliar eventuais crimes intencionalmente praticados contra policiais, mas que são registrados como latrocínios.
Permite avaliar o risco a que estão expostos os policiais em atividades de “bico” e o nível de violência do crime contra agentes de segurança.
Permite avaliar a disposição para o confronto por parte de quadrilhas e grupos organizados contra policiais.
Justificativa do Indicador
QUADRO 2.1 Indicadores sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (período de referência para os dados 1º semestre de 2014)
148 Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
CAP
CAP
Ocorrências de apreensão de drogas
Quantidade de crack apreendido (em grama)
9
10
Sim
Sim
Sim
CIPM e CAP
Número de ocorrências de roubos de carga
7
Disponível no Banco de Dados Sim
Principal fonte de informação
Número de vítimas Centro de Inteligência não fatais em da Policia Militar ocorrências de chacinas (CIPM)
Indicadores
6
#
Crime que requer maior sofisticação operacional e rede de receptação e distribuição. É geralmente praticado por quadrilhas e grupos organizados de maior complexidade organizacional.
Ampliar os crimes patrimoniais que são monitorados, por exemplo, incluindo crimes contra joalherias
O crack é uma das principais commodities do crime organizado no estado e seu refino, distribuição e comercialização no varejo são indicadores da presença e atuação desses grupos.
O refino, distribuição e comercialização de drogas ilícitas é a principal atividade econômica do crime organizado no Estado e o acompanhamento do número de apreensões (de qualquer tipo de droga) é um indicador importante da atividade desses grupos.
Indicador de natureza complementar para avaliação do impacto das chacinas.
Justificativa do Indicador
Recomendação de melhoria
QUADRO 2.1 Indicadores sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (período de referência para os dados 1º semestre de 2014) (cont.)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
149
Principal fonte de informação
CAP
CAP
CAP
Indicadores
Quantidade de cocaína apreendida (em grama)
Quantidade de maconha apreendida (em grama)
Quantidade de outras drogas apreendidas (em grama)
#
11
12
13
Sim
Sim
Sim
Disponível no Banco de Dados
Recomendação de melhoria
As drogas sintéticas e os inalantes (principais presenças entre “outras drogas”) têm geralmente uma cadeia de distribuição diferente da maconha e derivados de coca, também são diferentes os grupos e o perfil dos infratores envolvidos com sua distribuição, por isso é importante monitorar essas ocorrências separadamente.
A maconha é a principal commodity do crime organizado no estado e sua distribuição e comercialização no varejo são indicadores da presença e atuação desses grupos.
A cocaína é uma das principais commodities do crime organizado no estado e seu refino, distribuição e comercialização no varejo são indicadores da presença e atuação desses grupos.
Justificativa do Indicador
QUADRO 2.1 Indicadores sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (período de referência para os dados 1º semestre de 2014) (cont.)
150 Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Principal fonte de informação
CAP
CIPM
CAP
Indicadores
Ocorrência de tráfico de drogas
Denúncias de Jogos de azar no Disque Denúncia
Ocorrências de explosão de caixas eletrônicos
#
14
15
16
Sim
Sim
Sim
Disponível no Banco de Dados
Recomendação de melhoria
Crime de média a alta complexidade operacional, realizado por quadrilhas e grupos organizados e que envolve o fornecimento de explosivo.
Informação externa, prestada pela população, sobre a presença de jogos de azar, atividade diretamente explorada pelo crime organizado no Estado de São Paulo.
Essa informação complementa a informação sobre apreensões de drogas, pois pode haver apreensão sem indiciamento por tráfico (por exemplo, um depósito localizado). Indicador permite monitorar prisões por tráfico de drogas, a principal atividade do crime organizado no Estado.
Justificativa do Indicador
QUADRO 2.1 Indicadores sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (período de referência para os dados 1º semestre de 2014) (cont.)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
151
Indicadores
Número de ocorrências de eventos envolvendo explosivos
Ocorrências de apreensão de qualquer tipo de droga em rodovias
Número de desmanches ilegais
#
1
2
3
CIISP
CAP
CIISP
Principal fonte de informação
Não
Não
Não
Disponível no Banco de Dados
Justificativa do Indicador
Após a entrada em vigor da Lei nº 15.276/ 2014 mais de 400 estabelecimentos foram interditados, mas não há registro da localização espacial desses desmanches de forma a permitir o georreferenciamento das informações. É necessário organizar um banco de dados com as operações na CAP e geocodificar os endereços dos desmanches que foram fechados.
Devido sua importância na cadeia logística das drogas ilícitas é necessário levantar e organizar essas informações de forma sistemática a partir dos dados do RDO.
Os desmanches fazem parte direta da cadeia de receptação e distribuição de componentes de veículos roubados e furtados. Essa atividade está funcionalmente articulada às quadrilhas e grupos organizados que se dedicam ao roubo e furto de veículos.
A identificação das principais rotas utilizadas pelo tráfico de drogas pode ser analisada com base nesse indicador.
Atualmente, esses eventos não são Crimes como o furto ou roubo do excontabilizados de forma contínua, plosivo de fábricas, pedreiras ou durante por sua importância para a segurança o transporte; a detonação de uma parede recomenda-se o levantamento contínuo para acesso a uma empresa; ou o uso dessas informações nos boletins de direto contra policiais, são praticados ocorrência. por grupos organizados de média a alta complexidade organizacional.
Recomendação de melhoria
Indicadores adicionais sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo
152 Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Principal fonte de informação
CIISP
CIISP
CAP
CAP e SIOPM
Informação não computada
Indicadores
Número de denúncias de Drogas no Disque Denúncia
Número de denúncias sobre o PCC no Disque Denúncia
Número de ocorrências criminais em que o suspeito é imigrante ilegal ou estrangeiro
Número de ocorrências com apreensão de caça-níquel
Número de ocorrências de locais identificados no RDO como depósitos de drogas
#
4
5
6
7
8
Não
Não
Não
Não
Não
Disponível no Banco de Dados
A participação de estrangeiros em crimes é um indício da presença de grupos organizados de base étnica e/ou de ilícitos transnacionais.
Informação externa, prestada pela população, sobre a presença do crime organizado no Estado de São Paulo.
Informação externa sobre a presença de drogas em locais específicos. O indicador é utilizado como variável de controle das informações relacionadas ao tema produzidas no sistema de segurança pública.
Justificativa do Indicador
Por sua importância para a compreensão do processo de distribuição da droga recomenda-se a definição de protocolos que permitam extrair essas informações do RDO.
Essa informação permite identificar os pontos da cadeia logística das drogas que são utilizados como centros de distribuição.
A exploração de caça níqueis é uma das Por sua importância econômica para o principais atividades do crime organizacrime organizado é necessário monitodo no Estado e também é uma atividade rar de forma contínua as apreensões de que está associada diretamente à corrupcaça-níqueis no Estado. ção policial.
Essas informações podem ser extraídas do RDO de forma sistemática para integrar o painel de indicadores do crime organizado no Estado.
Levantar essas informações de forma contínua e integrá-las ao sistema de monitoramento do crime organizado.
Levantar essas informações de forma contínua e integrá-las ao sistema de monitoramento do crime organizado.
Recomendação de melhoria
Indicadores adicionais sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (cont.)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
153
CIISP
Número de ocorrências de locais identificados no RDO como refinarias de drogas
Presença de “cracolândias” (pontos de alta concentração de usuários de drogas ilícitas e do tráfico “varejista”).
Número de ocorrências com apreensão de armamento controlado.
9
10
11 CAP
Informação não disponível
Principal fonte de informação
Indicadores
#
Não
Não
Não
Disponível no Banco de Dados
Essas informações permitirão auxiliar e direcionar o esforço de prevenção realizado por diversos órgãos do Estado e para aumentar a eficiência do trabalho de prevenção e investigação das polícias contra o tráfico de drogas.
Realizar um mapeamento dos principais pontos de concentração de usuários de drogas no ESP (cracolândias) e estabelecer protocolos técnicos com a definição de rotinas padronizadas para o levantamento contínuo de informações sobre as cracolândias por parte das polícias Civil e Militar.
As informações sobre as ocorrências envolvendo apreensões de armas e muniInformação não monitorada e que ções controladas (pistolas, metralhadopor sua importância para a compreen- ras e fuzis, seja durante confrontos com são do crime organizado no Estado, a PM, seja durante roubos, furtos ou recomenda-se a definição de protocolos ocorrências de tráficos de drogas) é um que permitam extrair essas informaclaro indicador da presença do crime ções do RDO. organizado e da atuação de grupos dedicados ao contrabando e distribuição de armas controladas.
Essa informação permite identificar os pontos da cadeia logística do tráfico de cocaína que são utilizados como centros de refino, uma atividade operada pelos grupos criminalmente mais sofisticados e organizados do Estado.
Justificativa do Indicador
Por sua importância para a compreensão do processo de distribuição da cocaína recomenda-se a definição de protocolos que permitam extrair essas informações do RDO.
Recomendação de melhoria
Indicadores adicionais sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (cont.)
154 Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Principal fonte de informação
CIISP
Corregedorias de Polícia
CAP
Indicadores
Número de processos que indicam a lavagem de dinheiro
Número de policiais civis e militares indiciados por corrupção
Roubo de joalherias, de veículos de luxo e de grandes estabelecimentos comerciais
#
11
12
13
Não
Não
Não
Disponível no Banco de Dados
O crime organizado exerce diretamente seu poder de corrupção com o objetivo de facilitar e viabilizar seus negócios ilícitos e quanto maior o número de policiais indiciados por corrupção em uma determinada circunscrição policial, maior a probabilidade de atuação de quadrilhas e grupos organizados.
Por sua importância para a gestão do sistema de segurança e relação direta com o fenômeno da criminalidade organizada no Estado, recomenda-se a apuração contínua desse indicador.
Identifica a atuação de quadrilhas especializadas em roubos de alta complexidade e que requerem redes de distribuição e receptação complexas.
Dado externo oriundo da Secretaria Estadual da Fazenda e Receita Federal que poderá levar a identificação dos principais núcleos financeiros das redes do crime organizado.
A informação precisa ser obtida por meio de acordo de cooperação com a Secretaria Estadual da Fazenda e Receita Federal.
Essas informações podem ser extraídas do RDO de forma sistemática para integrar o painel de indicadores do crime organizado no Estado.
Justificativa do Indicador
Recomendação de melhoria
Indicadores adicionais sobre a Presença do Crime Organizado em São Paulo (cont.)
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
155
156
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
4.2. Avaliação Empírica dos Indicadores A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das 16 variáveis já disponíveis no banco de dados e que foram utilizadas na avaliação empírica dos indicadores sobre a atuação do crime organizado no Estado. Os dados apresentados indicam que com exceção das quantidades de drogas apreendidas, roubos de cargas e das ocorrências de tráfico e apreensão de drogas as variáveis selecionadas devem ser estaticamente consideradas como contagens com faixas muito pequenas de valores (por exemplo, policiais mortos em serviços e roubos de banco, entre outras). Todas as variáveis apresentam caudas na direção dos maiores valores, tendo 0 como moda em nove das 16 variáveis. TABELA 1 Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na análise Variável
Num. Obs.
Média
Min
Max
Obs. = 0
V001
Policiais mortos serviços
1045
0.01
0
1
1039
V002
Policiais mortos folga (exclusive latrocínio)
1045
0.03
0
2
1021
V003
Policiais mortos vítimas de latrocínio
1045
0.01
0
2
1033
V004
Ocorrência de tráfico de drogas
1045
18.18
0
228
143
V005
Roubo de banco
1045
0.08
0
3
974
V006
Roubo de carga
1045
4.00
0
145
664
V007
Ocorrência de apreensão de drogas
1045
24.19
0
229
173
V008
Quantidade de cocaína (gramas)
1045
2780.50
0
476225
298
V009
Quantidade de crack (gramas)
1045
490.90
0
116573
455
V010
Quantidade de maconha (gramas)
1045
12605.80
0
1908240
223
V011
Outras drogas
1045
101.54
0
45000
919
V012
Explosão caixa eletrônico
1045
0.27
0
8
855
V013
Ocorrência de chacinas
1045
0.01
0
2
1034
V014
Num. de vítimas fatais de chacinas
1045
0.04
0
6
1034
V015
Num. de vítimas não fatais de chacinas
1045
0.00
0
2
1042
V016
Denúncias de jogos de azar
1045
0.66
0
18
808
A análise da correlação (Anexo 1, Tabela 1) indica que há baixa correlação entre as variáveis selecionadas. As quantidades de drogas apreendidas, por exemplo, não estão correlacionadas espacialmente. Mesmo após descartar as
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
157
delegacias sem apreensão de drogas (para controlar o efeito do alto número de observações com valor 0 sobre o coeficiente de correlação), os coeficientes de correlação ficaram ainda mais baixos (Anexo 1, Tabela 2). O objetivo da análise empírica era obter indicadores sintéticos compostos a partir dos dados disponíveis. Para tanto, foi realizada uma análise de componentes principais (PCA na sigla em inglês). O PCA é uma técnica estatística aplicada em campos tão diversos como psicologia aplicada, reconhecimento facial, compressão de imagem, entre outras. Trata-se de uma técnica estatística empregada com o objetivo de se encontrar padrões em dados com muitas dimensões, exatamente o tipo de problema que estamos lidando nesse momento. Os resultados da análise dos componentes principais das 16 variáveis podem ser resumidas em dois vetores principais. Esses vetores foram tratados como indicadores da presença do crime organizado no Estado e indicam dimensões distintas do problema. O primeiro indica a importância dos crimes economicamente motivados e deixa claro sua incidência nas principais cidades do Estado, as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista e nas cidades de Ribeirão Preto, Sorocaba, Piracicaba, Presidente Prudente, entre outras de porte médio como mostra o Mapa 1 a seguir. O Mapa 2 apresenta o segundo vetor, relacionado à presença do tráfico de drogas no Estado. A distribuição espacial desse problema é bastante distinta do primeiro. Praticamente todas as regiões do Estado apresentam alguma delegacia no grupo de alta incidência do problema. Além de uma distribuição mais equitativa no território, é possível identificar dois grandes corredores de incidência do problema. O primeiro vai da Região de Ribeirão Preto até a Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, e o segundo tem dois pontos de origem, em Araçatuba e Presidente Prudente e segue pela região de Piracicaba até a Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista.
158
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
MAPA 1
159
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
MAPA 2
160
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
As análises realizadas com as primeiras 16 variáveis disponíveis no banco de dados sobre o crime organizado no estado de São Paulo são ainda exploratórias, mas claramente indicam o potencial desse tipo de análise para a gestão e o planejamento da segurança pública no Estado. A principal recomendação do presente artigo, nesse sentido, é a de que os dados necessários para a realização desse tipo de análise sejam coletados de forma contínua e que indicadores georreferenciados sobre a presença e atuação do crime organizado e das operações táticas das polícias contra esse problema sejam produzidos de forma contínua e sejam monitorados no âmbito do sistema de metas da segurança pública de São Paulo. 5. DESAFIOS INSTITUCIONAIS E AVANÇOS NA ATUAÇÃO INTEGRADA E COOPERADA DAS POLÍCIAS 5.1. – Marco conceitual A Convenção de Palermo, além de conceituar grupo criminoso organizado, estabeleceu as diretrizes que devem orientar as ações do Estado com vistas a um enfrentamento mais adequado e eficiente. Dentre as diretrizes cumpre destacar os esforços de criminalização desses grupos, a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro e à corrupção, e, principalmente, a adoção de técnicas especiais de investigação, o fortalecimento dos mecanismos de cooperação, o intercâmbio de informações e o recurso a investigações conjuntas. O tratado internacional em questão tem igualmente um mecanismo de monitoramento quanto à sua implantação e efetivação pelos países signatários por meio da denominada “Convenção das Partes”, que atualmente ocorre de dois em dois. Na sua sétima e última edição, entre 06 e 10 de outubro de 2014, os Estados deliberaram, entre outros assuntos, a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação, entre os quais a troca de informações, o recurso à inteligência e às investigações conjuntas. Particularmente no tocante à troca de informações, o recurso à inteligência e às investigações conjuntas impõe esforços que proporcionem a criação e implantação de mecanismos que potencializem tais objetivos de forma segura, confiável, precisa e ágil. A razão a justificar tais esforços repousa na necessária aceitação do problema da criminalidade organizada como uma questão interdisciplinar, com diferentes interfaces, bem como o caráter fragmentário com que o Estado encontra-se organizado, com multiplicidade de funções distribuídas entre órgãos diversos e não relacionados. O rompimento do isolamento e a busca pela aproximação possibilitam os seguintes benefícios:
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
161
• Redução da fragmentação da política; • Aperfeiçoamento e efetividade na facilitação e implantação das políticas; • Ampliação do interesse dos órgãos para diferentes perspectivas e orientações; • Relativização dos conflitos e concorrência entre os órgãos; • Aumento da produtividade dos órgãos; • Aumento da eficiência, redução da redundância e dos custos operacionais; • Mudança da cultura organizacional; • Mudança das culturas burocráticas e administrativas, além dos métodos de apuração. Em síntese, o enfrentamento às organizações criminosas pressupõe a ação integrada como regra de procedimento, e o foco na lavagem de dinheiro e na corrupção para a desarticulação de tais grupos. 5.2. – Iniciativas em curso do Governo do Estado de São Paulo Ações integradas de combate ao crime organizado têm sido cada vez mais constantes na agenda das políticas de segurança pública e têm contribuído para construir uma estrutura institucional dedicada ao problema, entre as quais se destacam: 1. A criação do Centro Integrado de Comando e Controle, como legado da Copa do Mundo de 2014, responsável pela articulação e coordenação das ações de segurança pública, proteção e defesa social, e cuja composição compreende, entre outras, as Secretarias de Estado da Segurança Pública, da Administração Penitenciária, de Transporte e de Transportes Metropolitanos, e do Meio Ambiente. As estruturas internas do CICC, segundo o Decreto n. 60.640 de julho de 2014, revelam a sua vocação para a atuação integrada com diversas agências, seguindo as mais exitosas experiências internacionais, notadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Integram o CICC, o Gabinete de Crise, o Centro de Operações Integradas, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, o Disque Denúncia e a Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado. Outro avanço importante a ser destacado refere-se à instalação do CICC numa estrutura física própria e neutra, o que facilita a inserção e o pertencimento dos órgãos partícipes, bem como a sua qualificação como unidade orçamentária, dotada de autonomia administrativa e financeira na execução dos seus objetivos, o que assegura uma maior sustentabilidade ao modelo de atuação integrada.
162
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
2. Em 2013 foi criada a Agência de Atuação Integrada. A Agência é composta por um Grupo Gestor e por Grupos Operacionais criados para cada uma das ações planejadas. O Grupo Gestor é formado por representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo; Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Também no ano de 2013, o Governo do Estado de São Paulo criou o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública por meio do Decreto n. 58.913, de 26 de fevereiro de 2013, órgão central de articulação e integração da atividade de inteligência, composto pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, e pelas Polícias Civil e Militar, porém, com a possibilidade de colaboração de outros órgãos, como atualmente ocorre, por meio da presença da unidade de inteligência do Ministério Público Estadual, da Receita Federal, da Receita Estadual, da Agência Brasileira de Inteligência, do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, entre outros. Outro fator que precisa ser considerado na avaliação dos avanços institucionais na área diz respeito à aquisição de tecnologias de informação e de comunicação e o desenvolvimento de estruturas especializadas na produção e análise de dados criminais. Desde a década de 1990, a Secretaria de Segurança Pública e as Polícias do Estado têm investido recursos significativos com a criação dos sistemas Infocrim, o Fotocrim, a ampliação e modernização do COPOM da Polícia Militar, a ampliação e integração do sistema de videomonitoramento, a criação da Polícia Técnica Científica (1998) e a ampliação de seus sistemas de informação como o Sistema de Controle de Provas Periciais, além do desenvolvimento de novos sistemas de gestão e monitoramento das atividades policiais. O balanço das iniciativas realizadas pelo governo do Estado indica um inquestionável alinhamento às diretrizes e orientações constantes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Contudo, indispensável ainda se mostra o aperfeiçoamento e a potencialização dos recursos, estruturas e esforços atualmente disponíveis no Estado de São Paulo, notadamente no âmbito da atividade de inteligência e da atividade de investigação criminal, bem como a definição das principais diretrizes a orientar tais esforços. No que se refere à integração da atividade de inteligência, ela deve se pautar pelos seguintes objetivos:
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
163
1. Efetiva participação dos órgãos estaduais, federais e municipais, por meio da alocação dos recursos humanos viáveis na estrutura do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública; 2. Planejamento e coordenação integrada de ações de inteligência não somente no plano tático e operacional, mas principalmente no nível estratégico, de modo a nortear a conduta e a postura do Poder Público. No que se refere à integração da atividade de investigação criminal, necessária se faz a construção e a efetivação das investigações conjuntas das quais participem não somente as polícias, mas principalmente o Ministério Público e outros órgãos de apoio, como as receitas estadual e federal, por exemplo. A Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado é o ambiente apropriado para o planejamento e execução das investigações, em que a estrutura disponibilizada pelo Centro Integrado de Comando e Controle oportuniza as condições ideais de neutralidade, segurança da informação e maior potencial de resultado. O protagonismo dos órgãos pressupõe a convivência no mesmo espaço físico, a divisão de atribuições segundo as respectivas competências, a sinergia dos esforços e recursos, o alinhamento em relação aos objetivos, o nivelamento do conhecimento e a gestão por resultado. 6. – RECOMENDAÇÕES R1. Implantação e monitoramento de indicadores quantitativos de natureza gerencial que permitam mensurar a atuação do crime organizado no estado e as operações táticas das polícias nessa área. Esses indicadores devem priorizar os tipos específicos de crimes que podem ser diretamente controlados pelas polícias e que refletem a presença do crime organizado nas suas várias formas e modalidades. O sistema de indicadores proposto irá contribuir para que as polícias do Estado possam obter reduções rápidas e sustentáveis nas taxas de crime no curto prazo, dado que os recursos de policiamento e investigação serão empregados justamente nos focos onde formas recalcitrantes de criminalidade tendem a se perenizar devido ao complexo sistema de relações que estabelecem com a sociedade e mesmo com as instituições policiais locais. R2. Definição do enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro como diretriz da atuação integrada para o fim de desarticular os grupos criminosos. A garantia da proteção oficial do Estado por meio da corrupção, somada à consistência econômica e financeira das atividades ilícitas tornam sustentável e perene à ação e existência dos grupos criminosos, independentemente da efetiva responsabilização penal, que nesses casos, ao longo dos anos, têm se mostrado inócuas quando estabelecidas como foco principal.
164
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
R3. Estabelecer um programa integrado com as três polícias para rastrear as Origens da cocaína e da maconha apreendidas em São Paulo, coordenado pelo Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – CIISP. Conhecer a origem da cocaína e da maconha que chega e é consumida no Estado permitirá ganhos de eficiência nas atividades polícias, possibilitando maior foco nas investigações e no policiamento de vias e uma cooperação mais efetiva com os demais Estados. R4. Estabelecer um programa coordenado pelo CIISP – Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública para o rastreamento de armas de fogo apreendidas no Estado. O rastreamento começa quando uma arma é apreendida e a partir daí procura-se identificar sua origem, a fim de desenvolver pistas para a investigação em primeiro lugar, e para localizar potenciais traficantes, vendas ilegais de armas (por estabelecimentos legalmente certificados ou não) e para detectar se as armas apreendidas estão circulando dentro do estado, do país ou tem origem no exterior. O rastreamento é um processo sistemático para acompanhar o movimento de uma arma de fogo desde sua fabricação ou pelo menos a partir de sua introdução no comércio legal (por exemplo, para uso pelas polícias e FAs) ou ilegal no país. R5. Aperfeiçoamento da estrutura de recursos humanos no Centro Integrado de Comando e Controle. O Centro Integrado de Comando e Controle, criado pelo Decreto n. 60.640/2014, qualifica-se como a estrutura mais adequada a articular e gerenciar de forma integrada a política do Estado de São Paulo no enfrentamento às organizações criminosas, cuja sustentabilidade e perenidade das ações demandam o aperfeiçoamento da estrutura de recursos humanos e gestão de pessoas. R6. Aperfeiçoamento das ações de comunicação. O aperfeiçoamento das ações de comunicação interna e externa tem por objetivo a difusão e o nivelamento do conhecimento sobre o problema, sua dimensão e soluções operacionais, mas também a influência sobre a percepção pública no tocante à postura e à estrutura do Estado para tal enfrentamento. REFERÊNCIAS SHEPTYCKI, J. (2004), “Organizational Pathologies in Police Intelligence Systems some Contributions to the Lexicon of Intelligence-Led Policing”, European Journal of Criminology, vol. 1 no. 3 307-332. Naylor, R.T. (2004). Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, Cornell University Press, Ithaca, Revised Edition. Falconi, V. (2009), O Verdadeiro Poder: práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários, INDG, p. 36.
V001
1.000
0.1958*
-0.0079
0.0789
0.0186
0.0429
0.0149
-0.0067
-0.0072
-0.0087
-0.0047
0.04
0.1024*
0.0441
V001
V002
V003
V004
V005
V006
V007
V008
V009
V010
V011
V012
V013
V016
0.2969*
0.1664*
0.0513
0.0832*
-0.0071
0.0135
0.0447
0.1207*
0.1666*
-0.021
0.1546*
0.0285
1.000
--
V002
0.1598*
-0.0104
0.1976*
-0.0042
0.0218
-0.0066
0.0316
0.0642
0.2352*
0.1885*
0.0774
1.000
--
--
V003
0.2238*
0.1006*
0.1234*
0.0075
0.0573
0.0431
0.0751
0.5253*
0.2068*
-0.0154
1.000
--
--
--
V004
0.1999*
-0.0003
0.3031*
0.0419
-0.0131
-0.0083
0.1085*
0.0646
0.1657*
1.000
--
--
--
--
V005
0.3897*
0.045
0.4320*
-0.0029
-0.0062
0.0096
0.067
0.1899*
1.000
--
--
--
--
--
V006
0.1984*
0.0746
0.1881*
0.0191
0.1089*
0.0892*
0.1539*
1.000
--
--
--
--
--
--
V007
0.0918*
0.0106
0.069
0.0429
0.1401*
0.2003*
1.000
--
--
--
--
--
--
--
V008
0.0075
0.0145
0.0347
0.0072
0.0727
1.000
--
--
--
--
--
--
--
--
V009
TABELA 1 Matriz de correlação bivariada (* indica p < 0.01)
ANEXO 1
0.0118
-0.0105
-0.0094
0.1037*
1.000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
V010
0.0771
-0.005
0.0172
1.000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
V011
0.2697*
0.0303
1.000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
V012
0.1060*
1.000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
V013
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
165
166
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
TABELA 2 Correlação entre quantidade de drogas apreendidas nas Delegacias com pelo menos uma apreensão (n=715) Cocaína
Crack
Maconha
Outras
Cocaína
1.0
Crack
0.1949
1.0
Maconha
0.1344
0.068
1.0
Outras
0.0394
0.0045
0.1019
1.0
Capítulo 13 Calçadas Caminháveis: Mobilidade Democrática Leonardo Guandalini Franchi Marília Gabriel Moreira Pires
1. INTRODUÇÃO Cidade inteligente é aquela que garante o direito de ir e vir e a que promove espaços para diversidade de usuários e de diferentes atividades de permanência além de permitir que usuários se desloquem de um ponto a outro de acordo com suas necessidade e vontade. Desde a década de 1970, o Brasil passa por uma intensa revolução urbana, o que desencadeia em um grande êxodo rural. A busca pelo trabalho nos grandes centros urbanos gerou o deslocamento da população rural às cidades em busca de melhor qualidade de vida. Hoje, quase 85% da população brasileira é urbana1, e a tendência é aumentar esse percentual. Esse processo intenso gerou o fenômeno de metropolização, ou seja, um processo de crescimento urbano desenfreado, que desencadeia vários centros ou aglomerações populacionais de forma não planejada. A falta de planejamento gerou contextos e situações na rotina daqueles que habitam a cidade. A partir do momento que os indivíduos já não conseguem acessar os seus destinos de maneira saudável, temos um caos e os prejuízos refletem no âmbito individual, social e o econômico. Diante da dispersão populacional nos grandes centros, a mobilidade urbana é um fator importante no cotidiano daqueles que vivem na cidade, sendo fundamental para uma boa qualidade de vida. No geral, a temática mobilidade está presente nos debates da sociedade há anos, de diferentes formas e contextos. Entretanto, o foco da discussão é o transporte motorizado e, assim, privilegiando o deslocamento de ônibus, metrôs, trens e, especialmente, de carros. Como consequência, as políticas 1
IBGE. População rural e urbana. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/ populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.htm. Acesso em: 19/01/2020.
168
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
públicas, os gastos públicos e os subsídios são voltados para o incentivo à indústria automobilística. A caminhada é o meio de transporte mais usado pelos brasileiros. Mais de 40% da população brasileira se desloca exclusivamente a pé.2 Entretanto, em grandes polos urbanos apenas 3% da população residente em capitais se locomovem a pé no dia a dia.3 O número baixo, principalmente, decorre do fato que ser pedestre não é uma atividade fácil no Brasil – seja pela falta de segurança, falta de acessibilidade ou pelas distâncias. Embora caminhar sempre foi a forma universal de deslocamento das pessoas, muito se discute sobre carros e bicicletas, mas pouco se fala no andar a pé. Caminhar é o meio de transporte mais econômico, saudável e democrático. A partir dele, é possível a locomoção até o destino final, bem como serve de conexão e integração com o transporte público ou motorizado. Já que nenhuma cidade funciona sem esse tipo de mobilidade ativa, ele merece lugar como uma das grandes prioridades de um plano de governo, o questionamento natural é a razão da falta de atenção nas estratégias de planejamento dos gestores públicos. Pessoas que andam a pé foram simplesmente ignoradas pelas políticas públicas, sendo tratadas de formas simplistas e genéricas. A ínfima importância legislativa dada pelos respectivos parlamentares corroboram a negligência para com o pedestre. Embora existam legislações federais e municipais que tratem de planejamento da rede de mobilidade a pé nas cidades brasileiras, o modal de caminhada não recebe investimentos proporcionalmente compatíveis com sua priorização, e, ainda assim, não existe o fornecimento da adequada rede (calçadas, escadarias, praças, vielas etc.) necessária para espaços caminháveis. Com a modernidade, veio a tecnologia, que pode facilitar o desenvolvimento de espaços públicos urbanos. A partir dos meios tecnológicos, a comunicação e transmissão de informações/dados são facilitadas. A partir de redes sociais e aplicativos, a mobilidade a pé tem o potencial de repercussão e engajamento social, ferramentas de tecnologia de informação e comunicação importantes (aplicativo SP Sem Carro, Cidadera; Colab; Google Maps – Street View) que empoderam cidadãos e cidadãs também para temas voltados à mobilidade a pé.4 2
3
4
COMO ANDA. Mobilidade a pé: definições e características. Disponível em: https://docs.google.com/presentation/d/1fbaGiKJm0cqCRqcbi2KqHtKDdG6tK0pv98Fyeap_JP8/edit#slide=id. g3f39e3950d_2_0/. Acesso em: 20/01/2020. PEDUZZI. Pedro. Estudo do IPEA mostra que 65%. Estudo do Ipea mostra que 65% da população usam transporte público nas capitais. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-05-04/ estudo-do-ipea-mostra-que-65-da-populacao-usam-transporte-publico-nas-capitais. Acesso em: 20/01/2020. COMO ANDA. Caminhe na linha do tempo da mobilidade a pé. Disponível em: http://comoanda.org. br/explore/marcos-da-mobilidade/. Acesso em: 20/01/2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
169
2. O MODAL DEMOCRÁTICO: CALÇADAS Andar a pé é a forma mais antiga e democrática de locomoção. A livre circulação é garantida pela Constituição Federal no artigo 5º, XV, e é direito de todos. Sem distinção. Para que seja efetiva a livre circulação, é necessária a conscientização no sentido da existência da calçada como passeios destinados ao uso público, que apresentam o encargo de permitir que todos os cidadãos possam ir e vir com liberdade, autonomia e, principalmente, segurança. A calçada faz parte da rede de mobilidade a pé. É o principal elemento no transporte do cidadão e ser social. Justamente diante do reconhecimento de que sua função principal é de abranger a caminhada, sua nomenclatura também pode ser a de “passeio público”. A calçada é elemento de ligação entre todas as atividades urbanas. Toda a mobilidade urbana começa ou termina nela5. De acordo com a Pesquisa Origem-Destino (pesquisa OD) de 20176 realizada pelo metrô de São Paulo, um terço das pessoas se locomovem exclusivamente a pé na capital do estado, ou seja, o trajeto do destino inicial ao final realizado inteiramente por caminhada. Isso porque a pesquisa costuma registrar apenas deslocamentos superiores acima de 500 metros, não contabilizando percursos mais curtos. Se forem consideradas distâncias percorridas até o transporte público e depois do transporte para seus destinos finais, o índice de deslocamento entre as pessoas sobe para quase 2 terços das viagens realizadas diariamente. Considerando como parâmetro econômico da pessoa, o caminhar a pé como forma de transporte se concentra na população com renda familiar de até R$7.500,00, que representam mais de 90% dos caminhantes. No entanto, o meio de transporte mais usado pelas pessoas com renda familiar acima de R$7.500,00 é o automóvel particular7. De forma congruente às informações, a pesquisa OD ainda traz que o segundo maior de motivo para locomoção a pé é pelo preço da condução ser elevado demais, sendo vencido somente pela razão de viagem ser de curta distância. Vale ressaltar que a grande maioria dessas viagens diárias são em razão de trabalho e educação (aproximadamente 85%). Todo ser social pratica o ato de caminhar. Entretanto, é fato que a maior parcela da população que transita a pé é de renda mais baixa. Uma vez que 5
6
7
METRAN WHATELY, Ivan. Modo de Transporte: CALÇADA, 2015. Disponível em: http://antp.org. br/noticias/ponto-de-vista/modo-de-transporte-calcada.html. Acesso em: 29/01/2019. Fonte: Pesquisa OD 2017 – Metrô SP. Disponível em: http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/. Acesso em: 19/01/2020. Fonte: Pesquisa OD 2017. Metrô SP. Disponível em: http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/. Acesso em: 19/01/2020.
170
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
essa parcela da população é marginalizada e ignorada, o direito à mobilidade é afastado e, consequentemente, não há garantia e afirmação da igualdade. Além disso, torna-se dificultoso o processo de influência sobre os interesses de políticas públicas voltados à mobilidade de forma não motorizada. É indiscutível que o caminhar é um modo que apresenta uma certa desvantagem em razão da sua relativa baixa velocidade e necessidade de esforço físico, razão pela qual não atrai adeptos com facilidade. Acontece que nem todos têm o poder de escolha e o caminhar passa a ser uma necessidade por questões de limitações de recursos. A população de baixa renda é impelida ao caminhar não por ser boa para a saúde ou por ser um ótimo exercício e sim pela condição de renda. Economizar uma ou várias tarifas muitas vezes é a razão para o indivíduo passar a caminhar. Dessa maneira, é fundamental que os planejadores em transporte considerem essa realidade e forneçam a infraestrutura adequada para o caminhar. Um outro ponto que merece atenção é que uma caminhada em um parque, por mais que seja longa, dá a sensação de ser menos cansativa que uma caminhada em uma via irregular, com buracos e malcuidada, isto é, calçadas bem cuidadas e visivelmente agradáveis estão intrinsecamente ligadas com o incentivo à locomoção ativa. Quanto pior a qualidade da calçada, menores serão as distâncias médias percorridas pelos transeuntes, pela simples falta de estímulo. É infinitamente mais agradável andar em uma avenida com largas calçadas, arborizada e com espaços amplos para cafés e restaurantes do que espremido em um passeio que ou cabe o poste ou cabe o transeunte, o que é a realidade das maiores capitais brasileiras, principalmente em zonas periféricas. A distância da caminhada ideal é um conceito relativamente fluido. Algumas pessoas andam felizes por muitos quilómetros, enquanto para alguns idosos, deficientes ou crianças mesmo curtas caminhadas são difíceis. A maior parte das pessoas está disposta a percorrer cerca de 500 metros. A distância aceitável, porém, também depende da qualidade do percurso. Se o piso for de boa qualidade e se o trajeto for interessante, aceita-se uma caminhada mais longa. Por outro lado, a vontade de caminhar cai drasticamente se o trecho for desinteressante e, assim, parecer cansativo. Hoje, em São Paulo, por exemplo, há uma diferença abismal entre calçadas de locais nobres da cidade, como a Rua Oscar Freire, avenidas como a Paulista ou Faria Lima, e bairros situados em zonas periféricas da cidade. Embora exista grande circulação de pessoas em bairros nobres, por serem centros comerciais, é inegável que nas zonas mais afastadas do centro é onde ocorrem as maiores circulações diárias de pedestres, por necessidade ou escolha – como tratado anteriormente.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
171
Democratizar calçadas é a medida que se impõe. A liberdade e o direito de ir e vir pertence a todos os cidadãos – tenham elas baixa ou alta renda, deficiência, mobilidade reduzida ou não. Uma cidade que privilegia a acessibilidade de circulação garante um direito previsto pela Constituição brasileira.8 3. CALÇADA COMO BEM PÚBLICO MUNICIPAL São considerados bens públicos tanto aqueles que se destinam ao uso direto do Poder Público como os destinados à utilização, direta ou indireta, da coletividade. Tal condição independe de qualquer registro formal de propriedade em nome do ente estatal, ou seja, o bem que é utilizado para alguma finalidade pública, mesmo que formalmente registrado como particular, é um bem público. A definição de bem público pode ser definida entre conceito doutrinário e legal. Como doutrina, temos a visão de Hely Lopes Meirelles9: são todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas governamentais.
De forma complementar, o Código Civil define em seu artigo 99 de forma exemplificativa, porém não exaustiva, que são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Para que se confirme a condição da calçada como bem público, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz em seu Anexo I, Dos Conceitos e Definições, o conceito de Via, Calçada e Logradouro público: Via – superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Calçada – parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Logradouro público – espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.
O artigo 23 da Carta Magna brasileira dispõe que “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I – zelar 8
9
PREFEITURA SP. Calçadas o direito de ir e vir começa na porta da nossa casa. Disponível em: https://www. prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calcadas/index.php?p=36935. Acesso em: 26/02/2020. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998.
172
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público”. Conforme essas definições, é possível afirmar que a calçada é parte da via, definida como logradouro público, reservada ao trânsito de pedestres e, portanto, integrante do conceito de ruas e, consequentemente, é um bem público e deve ser conservado. Sob essa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho ensina que “como regra, as ruas, praças, jardins públicos, os logradouros públicos pertencem ao Município”10. Considerando que as ruas e logradouros são vias públicas e calçadas, por definição legal, são integrantes dessas vias, não há outra conclusão possível senão a de que são as calçadas bens públicos municipais. Embora a calçada seja destinada aos transeuntes, não se faz legítima qualquer exigência normativa para que o particular seja incumbido da obrigação primária de construção e manutenção dessas calçadas. Porquanto, aqui, o Poder Público não está apenas restringindo o exercício prejudicial de uma liberdade pelo cidadão, mas, sim, está estabelecendo uma obrigação de fazer sem qualquer relação jurídica que a fundamente.11 Apesar disso, a maioria dos municípios brasileiros transferem, por meio de leis, a responsabilidade sobre os passeios ao particular, alienando sua obrigação e privatizando um bem público. A partir do momento em que chegamos à conclusão de calçada como bem público municipal e, por consequência, o ente público municipal tem a responsabilidade de executar adequações necessárias alinhando o ordenamento jurídico Municipal nos exatos termos em que dispõe a Constituição Federal, há inconstitucionalidade das leis que imputam a responsabilidade aos particulares proprietários de imóveis urbanos. Todo bem público é de responsabilidade integral de entes públicos, de forma não exclusiva, uma vez que o particular tem como obrigação de ser social o zelo e boa utilização. 4. CALÇADAS EM BOM ESTADO: DIREITO DO PEDESTRE E DEVER DO ENTE PÚBLICO Quando se fala em melhorar a mobilidade urbana, não se pode esquecer da garantia de calçadas em bom estado de conservação e construída de acordo com padrões técnicos adequados. Um passeio público em mal estado ou 10
11
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1243. BEZERRA, Luíza Cavalcanti. A natureza jurídica das calçadas urbanas e a responsabilidade primária dos Municípios quanto à sua feitura, manutenção e adaptação para fins de acessibilidade. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3320, 3 ago. 2012.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
173
defeituoso, apesar de trazer mais transtornos para pessoas idosas ou com deficiência motora, compromete a locomoção de todos os pedestres e ainda pode provocar muitos acidentes. A falta de atenção quanto à correta construção e manutenção das calçadas revela, sobretudo, um desrespeito ao cidadão e contraria a lógica dos deslocamentos urbanos. Hoje, a responsabilidade das calçadas lindeiras de imóveis particulares é do proprietário do imóvel particular. Ele tem o dever de construir e manter a calçada correspondente ao espaço defronte ao seu imóvel como quiser, com padrões estipulados em leis locais, cabendo ao poder público somente a fiscalização desse procedimento. Como consequência, grande parte dos passeios apresentam algum tipo de irregularidade – seja por construção irregular ou por deficiência na manutenção com presença de buracos, falhas no piso, mato alto, obstáculos e remendos malfeitos formando desníveis em relação ao piso original. A absoluta ausência de padronização da via pública inviabiliza a concretização da liberdade e acessibilidade plena nas cidades. Ainda, quando o particular é responsável pelo passeio, ele se sente como proprietário deste e no direito de fazer o que quiser, da forma como quiser. Nesse sentido, A transferência da obrigação financeira ao proprietário do lote lindeiro transmite a sensação de propriedade ao responsável pela forma como ela será construída. Essa atitude pode resultar no uso nocivo da calçada, dando ao cidadão a prerrogativa de construir passeios que sejam de utilidade sua e não da sociedade, como vemos nos calçamentos que são apenas rampas para entrada de carros, totalmente inacessíveis e sem nenhuma padronização.12
O poder público tem a responsabilidade somente de fiscalizar a qualidade das calçadas baseada em critérios nem sempre objetivos, normalmente generalizados e obscuros. Caso haja alguma irregularidade, o particular responsável será notificado para tomar as devidas ações para adequá-la. Caso ainda assim o particular não regularize o defeito apontado, poderá ser multado. De forma excepcional, a prefeitura é responsável por alguns passeios públicos, que pertencem às edificações públicas municipais, devendo também adequar as calçadas das vias estruturais (aquelas de tráfego intenso, conforme determinado pelo respectivo Plano Diretor). Isso mostra o quanto a calçada foi ejetada do sistema de circulação, diferente das ruas e estradas, que são expressamente responsabilidade dos entes 12
MOBILIZE ORG. De quem é a obrigação pela gestão da reforma e conservação das calçadas. Disponível em: https://www.mobilize.org.br/blogs/o-direito-de-ir-e-vir. Acesso em: 19/01/2020.
174
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
públicos e objeto de preocupação tanto pelo público quanto pelo privado. É evidente que ruas devem ser devidamente pavimentadas, linhas exclusivas de ônibus devem ser fornecidas, redes de trens e metrôs expandidas, entre outras ações que facilitem o transporte de longa distância. Entretanto, é fundamental notar que as calçadas são ignoradas mesmo diante da grande locomoção a pé e, portanto, os entes públicos precisam ser formalmente incumbidos tanto da responsabilidade pelas suas calçadas urbanas, quanto da sua manutenção e adaptação para fins de acessibilidade. 5. MOBILIDADE A PÉ COMO ELEMENTO DA CIDADANIA Diante da realidade econômica do brasileiro, torna-se quase impossível transferir toda a responsabilidade de conservar as calçadas. Então, fica a questão: como conseguir dinheiro e espaço hábil para garantir um local mais democrático, humano, acessível e que garanta a cidadania da população? Primeiro passo seria avocar a responsabilidade dos passeios ao Estado, de forma que as prefeituras municipais sejam inquiridas a investirem na mesma proporção ou até mais dinheiro do que é investido com problemas de engarrafamentos e transportes automotores individuais. O investimento público deve ter um significativo aumento nas formas de locomoção mais democráticas, como calçadas e transportes públicos, de forma a torná-los universalmente acessíveis, levando em conta a necessidade de todas as pessoas. Subsidiariamente, de forma transicional da transferência da responsabilidade do particular ao poder público, deveriam ser estipuladas formas de incentivos ou compensações, como, por exemplo, fiscal, ao particular a fim de viabilizar e ressarcir seu investimento com a calçada para torná-la acessível. Ainda, como o movimento em regiões periféricas e centrais são maiores, elas deveriam ser priorizadas para adequação de vias, principalmente para pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, que necessitam de manutenção especial. O planejamento de políticas de mobilidades deve tratar como ponto primordial o deslocamento dos pedestres, sendo que este é invariavelmente o meio de locomoção primário de todos. Ademais, tal planejamento deve ser adequado às diversas adversidades regionais, usando como base o diálogo com a sociedade civil. Uma das formas de comunicação adequada à realidade atual é de caráter tecnológica. Hoje existem formas de mapeamento digital por meio de aplicativos, que usuários comunicam qualquer tipo de problema ou elogio sobre calçadas, a fim de melhorar tanto a escolha do caminho utilizado pelo transeunte quanto a informação aos órgãos responsáveis do estado das vias. Outrossim, é importante que exista a movimentação para a construção da cidadania e da noção de viver em coletividade. A realidade é que os cidadãos
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
175
não têm conhecimento do que de fato é o direito à cidadania, sempre confundida com o simples ato de votar – que é somente um dos aspectos. Uma vez que existam espaços em que todos possam opinar efetivamente e refletir de forma conjunta, em busca de soluções para os problemas que vão surgindo no cotidiano, será possível identificar os problemas da realidade, buscar soluções possíveis para sua modificação e compreender que a ação individual atinge indiretamente o coletivo. 6. GRANDE FERRAMENTA DE TROCA: DADOS E TECNOLOGIA A FAVOR DAS CALÇADAS A tecnologia é capaz para ajudar a tornar a mobilidade um direito (efetivo) de todos. Independente da responsabilidade e investimento público para que essa realidade se transforme, é necessário compreender que existem oportunidades de desenvolvimento tecnológico que a sociedade deve aproveitar. Inovações tecnológicas podem ser a chave para manter grandes cidades se locomovendo eficientemente e deixando as ruas mais seguras para todo mundo usar. A título de exemplo, a prefeitura de Londres (ING) já fez testes para instalar calçadas inteligentes na cidade. Consistiam em passarelas com sensores e câmeras de vídeo para ajudar os pedestres a se locomover – como ao detectar automaticamente quantos pedestres estão esperando para atravessar uma rua.13 Assim como o APPedestre que é uma plataforma on-line que permite ao cidadão relatar problemas de infraestrutura na cidade de São Paulo, os pedestres conseguem indicar a existência de obstáculos com que se deparam nas calçadas da cidade: buracos no chão, postes em passagens estreitas, lixo e lixeiras bloqueando as vias e assim por diante. Para isso, é usada a geolocalização do celular.14 Apesar de não ser a forma mais integrativa, uma vez que o usuário depende de um aparelho celular com especificações técnicas mínimas que suportem o aplicativo, é uma forma de facilitação de acesso e participação do cidadão em políticas públicas. O conjunto de ferramentas tecnológicas que possui relevância e potencial para subsidiar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana gera dados valiosos, entretanto ainda não possui regulamentação robusta e específica para permitir o acesso pelos gestores públicos. É fato que existe uma enorme quantidade de dados que pode ajudar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da mobilidade no 13
14
MOBILIZE ORG. Londres cria calçadas inteligentes para ajudar pedestres. Disponível em: https:// www.mobilize.org.br/noticias/6027/html. Acesso em: 10/01/2020. APPEDESTRE. Disponível em: https://orleansklaus.github.io/appedestre/. Acesso em: 10/01/2020.
176
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
nível municipal e metropolitano. Alguns dados são do poder público obtidos por meio de estudos e pesquisas, que envolvem investimentos públicos; outros são gerados por meio de pesquisas acadêmicas e organizações da sociedade civil ou a partir de sistemas de empresas privadas – em razão de investimento exclusivamente privado ou decorrentes de contratos de concessão para operar serviços de transporte. Entretanto, ainda assim, os dados mais valiosos e ricos são aqueles expostos pelos próprios pedestres, que formam uma rede pessoas espalhadas pela cidade que o poder público possa contratar. O grande desafio do setor público é produzir ou acessar informações, gerenciar os dados e promover a troca de experiências sobre o uso de dados e evidências para planejamento e gestão da mobilidade. Os gestores e especialistas das cidades brasileiras enfrentam problemas semelhantes no que diz respeito à mobilidade urbana, mas raramente têm oportunidades de conhecer as soluções desenvolvidas. Ainda com base na tecnologia, é importante que o poder público seja capaz de articular a implementação e monitoramento de ações com base em evidências de forma participativa. CONCLUSÃO As calçadas certamente não resolvem problemas de longos deslocamentos, razão pela qual faz-se necessária sua integração com vias de transportes públicos. Afinal, as calçadas são complementares, uma vez que as pessoas precisam delas para se locomover até o transporte que irá utilizar. Uma cidade caminhável é possível e viável, pois não se trata de uma alternativa utópica e sim de uma solução para vários problemas pertinentes no mundo atual. Caminhabilidade é, ao mesmo tempo, um meio, um fim e uma medida além do fato de contribuir para a vitalidade urbana.15 O grande desafio dos polos urbanos é compreender o que torna a cidade de fato atrativa para as pessoas caminharem e, mais importante, como aplicar isso na realidade para todos de maneira igualitária. Para uma cidade ser considerada caminhável, as pessoas devem se sentir seguras e confortáveis em suas caminhadas. A acessibilidade é importante para idosos, gestantes, crianças e pessoas carregando compras e carrinhos de bebê, não somente a pessoas portadoras de deficiências físicas ou com mobilidade reduzida, de forma a proporcionar uma autonomia na locomoção de todos. Para que esses passeios idealizados sejam reais, faz-se necessário um grande investimento do Poder Público, junto com a avocação da responsabilidade para si que foi erroneamente transferida ao particular. Concomitante a isso, 15
SPECK, J. Cidade caminhável. São Paulo: Perspectiva, 2012.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
177
no mínimo, deveriam ser criados incentivos financeiros para que o particular consiga manter a calçada sob sua responsabilidade adequada. Assim, uma boa calçada não é somente aquela sem buracos ou amplas, mas que englobe também pisos padronizados, arborização para diminuição da temperatura, com faixas de livre passagem para pedestres, desobstruídas de objetos que possam afetar negativamente a locomoção do transeunte, com pequenos espaços destinados ao descanso. A cidade é de todos, inclusive dos pedestres. Para tanto, é necessário utilizar a tecnologia de forma a rever o papel do carro, proteger pedestres, plantar árvores, mesclar e deixar fluir o sistema de transporte, entre outras medidas que elejam o pedestre como prioridade. REFERÊNCIAS IBGE. População rural e urbana. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/ populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.htm. Acesso em: 19/01/2020. COMO ANDA. Mobilidade a pé: definições e características. Disponível em: https://docs.google.com/ presentation/d/1fbaGiKJm0cqCRqcbi2KqHtKDdG6tK0pv98Fyeap_JP8/edit#slide=id.g3f39e3950d_2_0/. Acesso em: 20/01/2020. PEDUZZI. Pedro. Estudo do IPEA mostra que 65%. Estudo do Ipea mostra que 65% da população usam transporte público nas capitais. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-05-04/estudo-do-ipea-mostra-que-65-da-populacao-usam-transporte-publico-nas-capitais. Acesso em: 20/01/2020. COMO ANDA. Caminhe na linha do tempo da mobilidade a pé. Disponível em: http://comoanda.org.br/explore/ marcos-da-mobilidade/. Acesso em: 20/01/2020. METRAN WHATELY, Ivan. Modo de Transporte: CALÇADA, 2015. Disponível em: http://antp.org.br/noticias/ ponto-de-vista/modo-de-transporte-calcada.html. Acesso em: 20/01/2020. Pesquisa OD 2017 – Metrô SP. Disponível em: http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/. Acesso em: 19/01/2020. PREFEITURA SP. Calçadas o direito de ir e vir começa na porta da nossa casa. Disponível em: https://www. prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calcadas/index.php?p=36935. Acesso em: 26/02/2020. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1243. BEZERRA, Luíza Cavalcanti. A natureza jurídica das calçadas urbanas e a responsabilidade primária dos Municípios quanto à sua feitura, manutenção e adaptação para fins de acessibilidade. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3320, 3 ago. 2012. MOBILIZE ORG. De quem é a obrigação pela gestão da reforma e conservação das calçadas. Disponível em: https:// www.mobilize.org.br/blogs/o-direito-de-ir-e-vir. Acesso em: 19/01/2020. MOBILIZE ORG. Londres cria calçadas inteligentes para ajudar pedestres. Disponível em: https://www.mobilize.org. br/noticias/6027/html. Acesso em: 10/01/2020. APPEDESTRE. Disponível em: https://orleansklaus.github.io/appedestre/. Acesso em: 10/01/2020. SPECK, J. Cidade caminhável. São Paulo: Perspectiva, 2012. MALATESTA, Maria Ermelina Brosch. Andar a pé: um modo de transporte para a cidade de São Paulo. 2008. Dissertação (Mestrado em Paisagem e Ambiente) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.16.2008.tde-11032010-093613. Acesso em: 2020-03-09.
Capítulo 14 Operações Urbanas e Indicadores Inteligentes José Police Neto
INTRODUÇÃO: OUCS COMO INSTRUMENTOS DA REURBANIZAÇÃO As Operações Urbanas Consorciadas são um dos instrumentos de transformação mais importantes consolidados pelo Estatuto das Cidades, em especial por integrarem as ações necessárias para a recuperação de áreas que exigem uma mudança e intensificação do uso do solo, preverem os recursos necessários para essa mudança, favorecerem um desenho urbano compatível com a política urbana proposta e, principalmente, estimarem os recursos necessários à ação a partir da recuperação de parte da própria valorização a ser gerada pelas intervenções. Em um momento no qual a capacidade de investimento público só se reduz, essa possibilidade de produzir recursos é essencial. Não há praticamente mais nenhuma outra fonte de recursos em larga escala para financiar grandes ações de transformação urbana, salvo investimentos de finalidade específica, além das OUCs. Desde as primeiras Operações Urbanas, algumas delas antes mesmo do Estatuto, o instrumento tem passado por uma evolução significativa, aprimorando conceitos e mecanismos, ampliando sua dimensão, fortalecendo a sua conexão com a política urbana geral e sobretudo integrando mais e mais dimensões ao seu escopo, em especial a preocupação social. A maioria das críticas genéricas feitas ao instrumento, em especial a de gentrificação, baseia-se em resultados de OUs realizadas no século passado e ignoram tanto a evolução dos mecanismos como os resultados efetivamente alcançados. Mesmo as OUs mais antigas, como a Água Branca e a Faria Lima, têm sido aperfeiçoadas à luz da evolução conceitual e operacional. Há, evidentemente, problemas a serem ainda resolvidos tanto na gestão como na avaliação e autocorreção da implementação do instrumento. Sem entrar em detalhes que escapariam ao objetivo deste texto, um dos problemas é um
180
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
descompasso entre o universo conceitual das OUCs – baseadas na ideia de se chegar a uma situação de equilíbrio no qual todos os segmentos envolvidos têm o máximo retorno possível – e aquele ainda vigente na nossa sociedade, centrado numa competição entre as partes com base em sua força política momentânea. Uma das dificuldades da última modelagem é que ela é por natureza instável, força política que flui e reflui conforme as circunstâncias, com os perdedores em um momento sempre esperando por uma revanche. Tal situação de instabilidade é ainda mais danosa na medida em que as OUCs são operações de longo prazo, levando décadas – e sucessivos mandatos – para concluírem seus objetivos. Portanto, podem ser facilmente destruídas pela oscilação e mudança brusca. A construção de um modelo estável de equilíbrio, no qual se tem a otimização dos resultados para todos os segmentos, por sua vez, tem de lidar com a complexidade de articular interesses e conseguir uma governança colaborativa que implemente esses objetivos otimizados. Além disso, é necessária uma avaliação e correção de rumo rápida no caso de problemas, demandando uma qualificação dessa governança para ser capaz de detectar problemas e encontrar soluções que não afetem o equilíbrio. A evolução da gestão de conflito político por recursos para a de equilíbrio e otimização não se resolve somente no campo da concepção das OUCs, exige uma mudança cultural na sociedade. Em especial, requer a existência de uma cultura cívica na qual há uma preocupação com a produção de uma cidade sustentável que garanta o futuro e a prosperidade para todos os segmentos enquanto objetivo maior que o atendimento a demandas específicas. Ainda assim, mesmo sob o risco desse descompasso limitando todo o potencial de desenvolvimento e impedindo uma governança qualificada, a operacionalização das OUCs e sua evolução podem beneficiar mesmo essa dimensão de cultura política, pois nenhum argumento é mais forte do que resultados de uma boa política. Isto posto, é necessário considerar os próximos passos dessa evolução também com essa dimensão política em vista e a meta de ampliar o potencial de estabilidade. Estabilidade, bem-entendido, não significa regras rígidas, imutáveis, a impedir que as correções de rumo possam ser feitas. Contudo, correções são necessárias em função de erros detectados, porque ao trabalhar no campo da inovação muitas vezes se constrói modelos que a realidade demonstra inválidos. Esses erros não devem ser compreendidos como defeitos, mas, antes, como experimentações. Sem o risco de cometê-los, também se perde a oportunidade de inovar e encontrar soluções inéditas. O importante é ser capaz de medir eficientemente os resultados e verificar com rapidez a divergência entre resultados esperados e previstos, para buscar a solução ou ajuste.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
181
Todavia, também são necessárias, em função da própria mudança de premissas e parâmetros inevitáveis em um planejamento estabelecido para décadas, em um ambiente que evolui tão rapidamente quanto as cidades e ainda mais em um país em desenvolvimento cujo cenário econômico pode alterar-se radical e rapidamente. Um bom exemplo para ilustrar essa questão da mudança de paradigma é que as cidades daqui a três décadas podem ser muito diferentes daquelas que se busca construir com as OUCs com relação à mobilidade. Há uma razoável possibilidade de boa parte desse foco das OUCs se tornar obsoleto com a adoção massiva do teletrabalho, por exemplo, tornando desnecessários muitos dos deslocamentos que hoje se tenta otimizar. Em um outro aspecto menos amplo, mas mais presente nessa necessidade de mudança, está o cenário macroeconômico, em especial com referência ao nível de atividade do mercado imobiliário. Estabelecer uma regra rígida, mesmo com todos os cenários analisados nos estudos de viabilidade, sempre trará uma situação na qual a ação especulativa se insinuará para dentro do modelo, muitas vezes apostando contra a consecução dos objetivos. Ao mesmo tempo, sempre se corre o risco de penalizar os atores econômicos com um retorno muito abaixo do projetado, destruindo a credibilidade essencial para o funcionamento das OUCs ou afastando delas o investimento privado essencial a seu sucesso. Ao mesmo tempo, mudar esses parâmetros derivados do cenário macroeconômico a cada virada econômica, em especial mudando a base legal para isso, pode comprometer em definitivo a saúde do modelo, porque torna qualquer estabilidade impossível e reforça a ideia de cada lado puxando para si os resultados conforme uma conjuntura política de curto prazo. A resposta parece ser a adoção de um modelo mais flexível, mas que varie segundo regras claras, previsíveis e objetivos. Experiências com essa modelagem dinâmica vêm sendo feitas, em especial na Cidade do México, e provavelmente serão incorporadas na nova geração de OUCs. Esforços parlamentares no sentido de dar essa dimensão dinâmica baseada em indicadores e nível da atividade econômica foram feitos na discussão da OUC Água Branca em 2013, do Plano Diretor em 2014 e da UOC Águas Espraiadas em 2019, mas não foram compreendidos. Delas, contudo, restou um elemento importante finalmente adotado pelo Poder Público: utilizar o IVG-BC (Índice de Valores de Garantia do Banco Central), que mede a atividade imobiliária ao invés de indexadores gerais de inflação. Essa alteração, mesmo pequena e adotada com 5 anos de atraso, sintoniza a mudança de valores com o mercado específico, que varia segundo ciclos diferentes do conjunto da economia e, inclusive, pode ter deflações significativas muito mais raras na economia geral.
182
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
INDICADORES INTELIGENTES A questão de estabelecer OUCs cujos mecanismos variem segundo regras estabelecidas a partir de indicadores que meçam seus efeitos e resultados traz de imediato a necessidade de definir quais seriam esses indicadores e, no escopo deste texto, a utilização de indicadores inteligentes. Há uma ampla gama de indicadores que podem ser úteis e deveriam ser utilizados ou levados em consideração. Na sequência, analisam-se alguns desses indicadores que poderiam dar essa necessária inteligência às OUCs. ATIVIDADE MACROECONÔMICA Indicadores do nível de atividade econômica podem parametrizar o valor dos CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção), estabelecendo um equilíbrio mais sólido entre a viabilidade econômica e a necessidade de recursos a serem obtidos para as intervenções previstas na OUC, destacando, como apontado acima, a necessidade e conveniência de utilizar prioritariamente indicadores que levem em conta especificamente o nível de atividade do mercado imobiliário. A inteligência desses indicadores da atividade imobiliária vem de um lado da possibilidade de manter a atratividade do investimento e a perspectiva de uma viabilidade econômica dos empreendimentos mesmo com mudanças bruscas no cenário macroeconômico, ao mesmo tempo que preserva o interesse coletivo de ações puramente especulativas. Assim, ao invés da necessidade de se alterar o marco legal da OUC – processo lento e sujeito a desvios – quando se está no vale ou no pico da atividade, tem-se a perspectiva de uma alteração automática em prazos mais curtos e sob condições melhor determinadas, até porque sujeitas ao objetivo definido pela OUC. Outra dimensão da inteligência a ser utilizada a partir desses indicadores do nível de atividade econômica, para produzir o salto de qualidade nas OUCs, é uma definição flexível das intervenções a serem realizadas, seu cronograma e escala de prioridades. A meta deve ser manter também aqui um equilíbrio entre os recursos arrecadados e o investimento público necessário para atender e qualificar a reurbanização e intensificação de uso pretendida pela operação. Tal finalidade está em absoluta consonância com os fundamentos das Operações Urbanas em sua definição conceitual. Esse equilíbrio é o pilar mestre sobre o qual a OUC deveria estar erguida, porém, na prática, não é exatamente assim que tem funcionado. Muitas vezes incluem-se ações apenas para garantir suporte político à aprovação de alguma decisão ou alteração e, praticamente sempre, elenca-se um rol de intervenções superiores ao que
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
183
efetivamente poderão ser realizados. Isso também é verdade no caso de um sucesso excepcional de arrecadação, quando, em geral, se leva a uma aplicação nem sempre sábia dos recursos extraordinários captados. É da natureza das OUCs uma certa variação em função da natureza de seu instrumento de captação, os CEPACs, ser um título imobiliário negociado em Bolsa – na maioria das vezes – e, portanto, sujeito às expectativas e humores do mercado. Não é possível nem desejável alterar essa natureza, nem é esse o objetivo da adoção de parâmetros macroeconômicos aqui proposta. A meta seria ser capaz de estabelecer que, uma vez alterada a ordem de grandeza dessas variáveis macroeconômicas, seja possível realizar o respectivo ajuste entre os valores arrecadados e as ações previstas. Essas alterações não visam alterar, mas exatamente manter, o equilíbrio visado pela OUC. Da mesma forma, não é uma mudança arbitrária, como as que por vezes podem se introduzir quando do processo de alteração do marco legal. Estabelece-se segundo regras bem-definidas e parâmetros objetivos, portanto contribuindo para reduzir o risco político da operação e, assim, tornando o título mais atrativo e a viabilidade econômica mais estável. Na outra ponta, a adoção de uma escala de prioridades e cronogramas dependente da arrecadação efetivamente prevista, variando conforme esse nível de atividade, assegura mais transparência e credibilidade à proposta e garante um equilíbrio e previsibilidade também para a sociedade. Por um lado, evita-se a aplicação de recursos de forma discricionária segundo agendas outras que não a definida pelos objetivos da OUC, por outro, assegura-se um planejamento mais efetivo no qual qualquer que seja o montante arrecadado será garantido que existirá uma infraestrutura adequada para manter dentro dos limites prefixados da região, assegurando assim a qualidade de vida para os moradores e a qualidade urbana para toda a cidade. INDICADORES DE RESULTADOS Uma OUC busca, por definição, um determinado conjunto de resultados consonantes com seus objetivos definidos no marco legal que a criou. Certamente, há uma dimensão fixa nesses resultados, porque o desenho de cidade que se almejou ao definir os objetivos não deve ser alterado a não ser sob circunstâncias extremas de mudança de paradigmas – o que será analisado na próxima seção. Entretanto, é necessário ter instrumentos inteligentes para verificar o quanto as políticas e instrumentos utilizados na OUC realmente produzem os resultados desejados. Essa aderência entre resultados efetivamente observados e esperados é o que se busca nessa segunda família de indicadores inteligentes. Enquanto os indicadores de atividade econômica descritos na seção anterior buscam o equilíbrio estável entre o montante de recursos arrecadados
184
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
e investidos, os Indicadores de Resultados têm a meta de manter a coerência desses investimentos com os objetivos gerais e específicos do projeto. Certa dimensão experimental é inerente às OUCs, tanto porque elas exigem um grau elevado de inovação e experimentação quanto às políticas aplicadas, como já assinalado na introdução do texto, quanto pelo fato de a dinâmica urbana ter um elevado grau de complexidade e, portanto, de imprevisibilidade. Quando se usa um novo instrumento para implementar uma política, é fundamental ter condições de verificar se a dimensão teórica se ajusta aos resultados efetivos. Toda modelagem está sujeita a algum grau de imprecisão ainda mais quando se trata de ambiente complexo como a realidade urbana repleta de variáveis que não podem ser capturadas e quando se fala de uma transformação que será medida em décadas. Assim, mesmo que as premissas estejam corretas e a interação entre as variáveis se dê conforme o previsto, ainda há muitos outros fatores interferindo no processo e que podem influenciar positiva ou negativamente na obtenção dos resultados necessários. É essencial uma dose de humildade a guiar esse processo, pois o apego a visões milagrosas facilmente produz catástrofes. Parte desses indicadores de resultados já está disponível e bem-consolidada quanto ao marco conceitual, obtenção, análise e interpretação. É o caso, por exemplo, do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), Indicadores de Desempenho e outras medidas já amplamente utilizadas pelo poder público e sociedade para avaliar resultados de políticas sociais e públicas. Também é o caso de vários indicadores relativos à mobilidade e capacidade de suporte, bem-estabelecidos e amplamente utilizados na própria modelagem do processo. Igualmente há muitos indicadores quanto à aplicação dos parâmetros urbanísticos da OUC, verificando densidade efetiva da população, proporção de uso do solo, intensidade de uso, entre outros. O mesmo pode ser dito em relação ao extenso rol de indicadores ambientais, relativos tanto à poluição quanto à drenagem e acesso a áreas verdes. Com relação a essa base bem-definida de indicadores, o que falta não são os indicadores em si, mas a inteligência necessária a assegurar que esse fluxo de informações, muitas delas em tempo real, possa de fato alimentar a gestão e controle social da OUC para verificar as políticas implementadas pela operação e, sobretudo, produzir as mudanças de rumo no caso de resultados diferentes dos previstos. O primeiro passo para essa inteligência é estabelecer metas para tantos indicadores quanto possível, preferencialmente no próprio marco legal que estabelece a OUC. Tentativas de introduzir essa exigência em OUCs e no próprio Plano Diretor, pelo meu mandato, infelizmente não foram bem-sucedidas. A partir do momento no qual se tem um conjunto de metas bem-estabelecidas, se pode a todo momento verificar o quanto os resultados que vêm sendo
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
185
obtidos se encaminham para os resultados esperados e em qual velocidade e eficiência a transformação está produzindo o desenho de cidade desejado. Esse conjunto de medidores apontarão com transparência tanto para os gestores e controladores como para o conjunto da sociedade se a OUC está funcionando – enfim se está cumprindo as promessas que fez – ou não. Centrar o debate nesses pontos, então, passa a ser o grande salto qualitativo de governança, assim como os indicadores da atividade econômica permitem o salto quanto ao equilíbrio da viabilidade econômica. Supera-se, com isso, aqueles problemas de governança apontados acima, substituindo a simples disputa política e econômica de segmentos com base na força – por definição gerando um equilíbrio instável como apontado em capítulo anterior – por um esforço coletivo de assegurar resultados que geram o equilíbrio estável no qual todos ganham. Em um ambiente intrincado e frágil como o espaço urbano, a substituição da competição de soma zero pela de ganha-ganha de um equilíbrio estável não pode jamais ser subestimada, ainda mais em operação de longo prazo. Certo grau de automação do processo decisório e das correções a serem implementadas está em um outro patamar ainda a ser alcançado, discussão por si só extensa que fugiria ao escopo do artigo. Mesmo sem esses pontos, o grande ganho de governança ao se debater sobre o andamento da operação com base nos resultados efetivos já é por si uma evolução significativa nesse nosso caminho de Operações Urbanas Inteligentes de fato. INDICADORES CONCEITUAIS Enquanto as duas famílias de indicadores apontados nas seções precedentes – uma medindo os elementos externos à OUC e outra aos internos – estão fundadas em conjuntos de medições solidamente estabelecidas segundo embasamentos teóricos consolidados e procedimentos testados, para ter validade todas elas dependem de um conjunto de premissas. A extrema velocidade das transformações sociais e econômicas na Era da Informação, o longo prazo no qual uma OUC cumpre seu ciclo e a complexidade das cidades, em especial das metrópoles, tornam plausível a hipótese de que em algum momento do processo as premissas se alterem. Os exemplos e possibilidades são muitos. A mobilidade, que tem papel central na definição dessas premissas, pode ser radicalmente alterada nas décadas de vida de uma OUC. Veículos elétricos podem reduzir substancialmente a poluição, assim como a expansão do teletrabalho pode reduzir significativamente o número de deslocamentos ao mesmo tempo que cria novas demandas quanto ao desenho dos imóveis, ampliação do volume de vendas on-line e serviços de entrega podem mudar a lógica de deslocamentos e de alocação de centros comerciais baseados nesses deslocamentos.
186
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
No sentido inverso, as mudanças climáticas podem gerar transformações no ambiente de tal monta que os parâmetros ambientais nos quais uma OUC foi delineada sejam virados de ponta-cabeça. A drenagem, ponto essencial de toda OUC, pode ser drasticamente alterada, fluxos populacionais de populações afetadas em outras regiões podem afetar toda a dimensão social de uma cidade. Por mais que uma OUC deva buscar o objetivo de resiliência com base no conhecimento produzido pelas Conferências Habitat, quando se avança no planejamento em décadas a possibilidade de uma alteração não prevista, subestimada ou superestimada, apenas cresce e surge a necessidade de avaliar se o plano precisa ser mudado. Sem pretender ser uma relação exaustiva, esses pontos elencam uma pequena relação de transformações bem plausíveis que podem romper com os paradigmas que guiaram a construção das OUCs e destruir algumas das premissas que orientaram toda a modelagem. Medir o impacto de eventuais mudanças na própria lógica das cidades não é um desafio fácil, mas é absolutamente necessário. Muito provavelmente não há forma de corrigir rumos dentro do próprio mecanismo e, portanto, aqui – e só aqui – a repactuação a partir da alteração do marco legal deveria ser considerada, ao invés da utilização desse recurso em todo caso como tem sido a prática. Todavia, mesmo que não seja possível corrigir os rumos a partir de mecanismos da própria operação – como se pretende que deva ser feito no caso das outras duas famílias de indicadores –, é essencial ter indicadores que apontem que a divergência entre modelo e realidade está passando por uma situação crítica e acenda a luz vermelha de que as premissas podem estar perdendo a validade, sendo necessário voltar à prancheta e à planilha. CONCLUSÕES As três famílias de indicadores propostas para dar inteligência de fato às OUCs aqui listadas têm pelo menos dois pontos em comum. O primeiro é que todas elas buscam produzir um salto de qualidade ao processo, tornando-o menos sujeito a erros e avançando sobre o controle da eficiência, eficácia e efetividade das Operações, tornando-as realmente inteligentes na medida em que buscam organizar o fluxo de informações para de fato guiar as ações. O segundo elemento comum é admitir em seu cerne uma boa dose de humildade do planejador frente à realidade. Ao invés de um modelo pronto, acabado e perfeito, como o desenho de uma casa isolada, os indicadores propostos e sua interação através de algoritmos delimitando o campo de ação decisória com gestores, poder público e sociedade apresentam um sistema
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
187
dinâmico no qual a informação determina os parâmetros e o curso a serem seguidos, inclusive para a correção do modelo. A incorporação dessa inteligência às OUCs é um passo fundamental nas próximas gerações de Operações Urbanas. A complexidade do ambiente urbano e a limitação de que as cidades não podem ser construídas e destruídas à vontade do administrador do momento, bem como as limitações de recursos naturais, humanos e econômicos demandam uma otimização do uso. Ainda que se possa pensar em uma infinidade de novos conjuntos de indicadores, em especial com os avanços da tecnologia da informação que tornam a coleta e processamento de informações mais simples e efetiva, os indicadores existentes entre as duas primeiras famílias citadas – indicadores da atividade econômica medindo os elementos externos à OUC e indicadores sociais, urbanísticos e de qualidade de vida medindo os resultados internos – já têm uma gama bem-consolidada de medidas. Sem descartar a possibilidade de criação de novos medidores, a incorporação desse conjunto já existente a um sistema de tomada de decisões e avaliação, produzindo regras e metas em um algoritmo definido segundo regras claras e objetivas, seria um grande passo evolutivo. Para esse passo, todas as condições já estão presentes, toda a informação necessária já está disponível, resta apenas tomar a decisão política de sua implementação.
Capítulo 15 Logística Reversa e Economia Circular Maria Helena Zucchi Calado
INTRODUÇÃO O Sistema Campo Limpo é o programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. Ele congrega todos os elos da cadeia – fabricantes, canal de distribuição, agricultores e poder público – para assegurar a correta destinação dos resíduos pós-consumo desses produtos, conforme prevê a Lei 9.974/2000 e o decreto regulamentador 4.074/2002. O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), organização sem fins lucrativos, representa a indústria fabricante no Sistema, no qual atua como entidade gestora. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sistema Campo Limpo conta com uma estrutura formada por mais de 400 unidades de recebimento fixas – postos e centrais, distribuídos estrategicamente pelo país – e recebimentos itinerantes (RI), que dão ainda mais capilaridade ao atendimento e ampliam o acesso de pequenos agricultores de localidades mais distantes. As embalagens devolvidas pelos agricultores nas unidades de recebimento são recicladas em diferentes artefatos utilizados por segmentos da construção civil, da indústria automotiva e energética, entre outros. Também é o primeiro caso no mundo de produção de novas embalagens de defensivos a partir da sua própria resina reciclada. Ao todo, o Sistema recupera e dá a correta destinação a 94% do total de embalagens plásticas primárias (que entram em contato direto com o produto) colocadas no mercado todos os anos. Desde 2002, esse trabalho permitiu a destinação de 550 mil toneladas de embalagens, o equivalente ao volume de resíduos gerado em uma cidade de 500 mil habitantes durante 11 anos. Cerca de 95% do material é reciclado e os 5% que não são passíveis de reciclagem passam por incineração controlada. Promover a educação ambiental e o engajamento pela sustentabilidade no campo também faz parte dos fundamentos do Sistema. Canais de distribuição, indústria fabricante e o poder público compartilham a responsabilidade
190
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
de realizar campanhas para orientar os agricultores sobre os procedimentos adequados de lavagem e devolução das embalagens. Contudo, o público-alvo das iniciativas vai além, envolvendo a conscientização da comunidade escolar e da sociedade em geral. Mais de 1,6 milhão de estudantes já participaram do Programa de Educação Ambiental (PEA) Campo Limpo, reconhecido em 2019 pela ONU como exemplo de boas práticas. O Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado anualmente em 28 de agosto, já reuniu mais de 1 milhão de pessoas em atividades educativas e lúdicas associadas ao funcionamento do Sistema e à conservação ambiental. Apesar das especificidades da logística reversa das embalagens vazias, os aprendizados, a governança baseada na responsabilidade compartilhada de todos os elos do Sistema e as inovações desenvolvidas em quase 20 anos de atuação, desde 2002, fornecem insumos relevantes para as discussões sobre o atual desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos e têm o potencial de gerar novos conhecimentos para retroalimentar o processo de evolução constante do próprio Sistema. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA O Brasil conta com 1,8 milhão de propriedades agrícolas1 e dedica 8,8% do seu território2 a diferentes cultivos. A produção de grãos ocupa 62,9 milhões de hectares e a área total de lavouras chega a 75,4 milhões de hectares. Em 2018, o agronegócio representou pouco mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional3. Esses números demonstram a força da agricultura na economia brasileira e ajudam a compreender a dimensão do desafio de gerir as embalagens pós-consumo de defensivos utilizados para combater pragas e proteger os índices de produtividade no campo. Essa é uma questão complexa e precisa ser enfrentada em seus diversos aspectos, que se desdobra em uma série de perguntas. Como lidar com a capilaridade do consumo em um país de dimensões continentais como o Brasil? Qual a melhor abordagem para colocar em prática a logística reversa: esforços individuais ou um plano setorial coletivo? Como e com que critério estabelecer as obrigações de cada elo da cadeia agrícola na destinação das embalagens vazias e das sobras pós-consumo e assegurar que todos os envolvidos façam a sua parte? Qual o papel da legislação nessas definições e como fiscalizar seu 1 2
3
Fonte: Censo Agropecuário 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dado referente à safra 2018/2019. Fonte: Projeções do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Secretaria de Política Agrícola. Comparativo PIB 2018 (IBGE) e PIB do Agronegócio, calculado pelo Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (Cepea-USP) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
191
cumprimento? Como a educação, a conscientização e o engajamento podem colaborar para consolidar essa logística? O trabalho sistemático da indústria fabricante de defensivos agrícolas para encontrar as respostas a essas perguntas data da década de 1990, quando a Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef) iniciou estudos sobre o fluxo das embalagens para orientar uma iniciativa de abrangência nacional e mobilizou outras organizações em um projeto piloto de recebimento. O aprendizado que a experiência possibilitou serviu de parâmetro para a legislação sobre o tema, definida na década seguinte. A cronologia dos fatos é a seguinte: no ano 2000, foi aprovada a Lei Federal 9.974, sobre o destino final dos resíduos e embalagens de defensivos e aspectos relacionados a pesquisa, experimentação, registro, classificação, controle, inspeção e fiscalização, produção, importação e exportação, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda e utilização dos produtos. A regulamentação veio dois anos depois, com o Decreto Regulamentador 4.074. Juntos, esses dois instrumentos determinam as obrigações de cada um dos elos da cadeia agrícola que integram o ciclo de vida das embalagens de defensivos: • Após o consumo, os agricultores são responsáveis por lavar, armazenar e devolver a embalagem vazia de defensivo na unidade de recebimento indicada na nota fiscal de compra do produto; • Distribuidores e revendedores devem construir e manter locais adequados para receber e armazenar as embalagens vazias e indicá-los na nota fiscal; • A indústria fabricante é responsável por transportar as embalagens recebidas e assegurar a destinação ambiental mais adequada; • Ao poder público, por sua vez, cabe licenciar as unidades de recebimento e fiscalizar o funcionamento da logística reversa; • E de forma conjunta, canais de distribuição, a indústria fabricante e o poder público compartilham a obrigação de educar e conscientizar de forma periódica os agricultores sobre a importância de participarem da logística reversa. Se por um lado os papéis e responsabilidades estavam claramente determinados, ainda faltava definir a operacionalização de como colocar em prática essas obrigações. A solução veio na forma do Sistema Campo Limpo, que se apoia na legislação para congregar os diferentes elos da cadeia agrícola, e adiciona um elemento fundamental ao processo: uma entidade gestora. Esse papel coube ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), que foi fundado em 2001 e começou a atuar em 2002.
192
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
SOLUÇÃO PROPOSTA O Sistema Campo Limpo é o programa brasileiro de logística reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Ele faz a correta destinação de todos os tipos de embalagem desses produtos regularmente comercializados. Isso inclui as embalagens de plástico ou metal, suas tampas e as caixas de papelão utilizadas no transporte. Além disso, o Sistema também recebe de volta as sobras pós-consumo dos defensivos que o agricultor não tenha utilizado até o fim, que podem ser de dois tipos: • sobras com a data de validade vencida ou com danos na embalagem que impeçam sua aplicação; e • sobras em desuso, que tiveram o registro cancelado, mas não proibido, e não contam mais com a recomendação para o uso. O Sistema conta com mais de 400 unidades fixas de recebimento, divididos entre postos e centrais, que se distribuem de forma eficiente considerando as demandas locais e asseguram atendimento nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para receber embalagens vazias e sobras pós-consumo de pequenos produtores localizados em regiões mais distantes dessas unidades, também são realizados os Recebimentos Itinerantes (RI), que cumprem uma agenda periódica divulgada previamente nas regiões de cobertura. São muitos os resultados positivos que comprovam o êxito dessa estrutura. Anualmente, o Sistema assegura a destinação de 94% do total de embalagens plásticas primárias de defensivos colocadas no mercado. As embalagens primárias são as que têm contato com o produto. Desde que começou a operar, em 2002, o Sistema destinou 550 mil toneladas de embalagens vazias, o que equivale à média de resíduos produzida por uma cidade de 500 mil habitantes durante 11 anos. A destinação das embalagens com sobras pós-consumo, iniciada em 2015, já acumula um total de 100 toneladas destinadas. Além de evitar os riscos à saúde e ao meio ambiente da disposição inadequada das embalagens, a logística reversa dos materiais também gera ganhos de ecoeficiência. Entre 2002 e 2018, o Sistema Campo Limpo evitou a emissão de 688 mil tCO2 equivalente. Para capturar esse mesmo volume de emissões, seria necessário plantar 4 milhões de árvores. A destinação correta e a reciclagem das embalagens também evitaram a extração de 1,6 milhão de barris de petróleo e geraram uma economia de energia elétrica suficiente para abastecer 1,5 milhão de residências durante um ano. A avaliação é feita pela Fundação Espaço Eco, organização referência para análises de ciclo de vida.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
193
Entidade gestora O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) é uma organização sem fins lucrativos, representa a indústria e reúne cerca de 100 fabricantes e registrantes de defensivos agrícolas que atuam no Brasil. Sua missão é contribuir para a conservação do meio ambiente e do Sistema Campo Limpo, por meio da gestão autossustentável da destinação final de embalagens vazias de produtos fitossanitários e da prestação de serviços na área de resíduos sólidos, com envolvimento e integração de todos os elos da cadeia produtiva agrícola. Como entidade gestora do Sistema Campo Limpo, o inpEV trabalha para garantir a eficiência dos processos, além de investir em pesquisa, desenvolvimento, conscientização e educação ambiental. A visão integrada da gestão facilita, ainda, a captura de oportunidades de melhoria do próprio Sistema, como a aplicação do conceito de economia circular para a produção de novas embalagens de defensivos a partir da resina reciclada das embalagens recebidas ou a ampliação do escopo do Sistema para o recebimento das sobras pós-consumo. Outro exemplo é o desenvolvimento de soluções para ampliar cada vez mais o universo de embalagens passíveis de reciclagem. Atualmente, se recicla 95% de todo o volume recebido, e somente os 5% restantes, que não podem ser reciclados, são encaminhados para incineração. Financiamento do Sistema Os custos do Sistema são compartilhados: o agricultor arca com o custo de transporte das embalagens vazias da sua propriedade até o local de devolução, os canais de distribuição custeiam a construção e administração das unidades de recebimento; a indústria fabricante se encarrega dos custos de logística e destinação, realizas pelo inpEV, além das outras atividades desenvolvidas pelo Instituto, como comunicação e educação, assessoria jurídica, desenvolvimento tecnológico e projetos de sustentabilidade, e o governo apoia os esforços de educação e conscientização do agricultor em conjunto com fabricantes e comerciantes. Desde 2002, já foram investidos R$ 1,2 bilhão no custeio das atividades do Sistema – 85% desse valor pela indústria fabricante. Dia a dia do Sistema Os agricultores entregam as embalagens vazias e as sobra pós-consumo nos postos e centrais de recebimento, que emitem o recibo de devolução. Nas unidades, a primeira etapa é separar as embalagens vazias, com sobras, lavadas e não lavadas. As embalagens vazias e lavadas corretamente, que serão destinadas
194
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
à reciclagem, e as embalagens secundárias, que não têm contato com o produto, também são classificadas de acordo com o tipo de material: diversos tipos de plástico, papelão, metal, entre outros. Depois, podem ser compactadas ou enfardadas para serem transportadas com mais eficiência. Embalagens vazias que não passaram pelo processo de lavagem pelo agricultor, ou contendo sobras de produto, são armazenadas em local apropriado e têm como destino a incineração. As unidades de recebimento podem ser administradas por cooperativas, associações de revenda ou pelo próprio inpEV. Todas as unidades do Sistema possuem licenças operacional e ambiental, alvará do corpo de bombeiros e mantêm treinamentos com base em procedimentos operacionais, que asseguram a segurança desses ambientes e dos seus trabalhadores. Por meio da logística reversa, os caminhões que distribuem os produtos às revendas transportam as embalagens vazias até as recicladoras e incineradoras parceiras do Sistema, que fazem a destinação ambientalmente correta do material. Entre as unidades de recebimento e o destino final são transportadas diariamente 945 toneladas de embalagens, o equivalente a 70 caminhões cheios. O material é reciclado pelas recicladoras parceiras do Sistema em mais de 30 artefatos utilizados pela construção civil, indústria automotiva e energética, entre outros. Dutos corrugados, tubos para esgoto, caixas para bateria, dormentes ferroviários, postes de sinalização e cruzetas para postes são alguns dos artefatos que podem ser produzidos a partir da resina reciclada das embalagens recebidas pelo Sistema, em um processo que reduz a demanda por novos recursos naturais. Em busca da máxima eficiência desse processo, o monitoramento é contínuo e se apoia no processamento informatizado de informações. O Sistema de Informações das Centrais (SIC) gerencia o volume de embalagens recebidas, o estoque das unidades, organiza o transporte e rastreia a movimentação de mais de 12 mil caminhões ao ano. A logística reversa pressupõe uma visão de cadeia para garantir que o caminhão que transportou os produtos até os canais de distribuição possa retornar com as embalagens vazias. Além disso, para oferecer mais comodidade e agilidade aos agricultores, o inpEV mantém um canal eletrônico de agendamento da devolução das embalagens vazias. Pelo prontuário digital, o agricultor também pode adiantar o envio das informações necessárias para o procedimento. Economia circular Produzir pensando apenas no primeiro uso de um bem ou serviço, baseado no fluxo linear de extração da matéria-prima, manufatura, uso e descarte, caracteriza ainda hoje grande parte do processo industrial. Transformar essa prática, incluindo desde o início do desenvolvimento de um
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
195
produto preocupações sobre o seu ciclo de vida e a garantia do retorno desses materiais para o processo produtivo, está na base da economia circular. Esse é também um esforço do Sistema Campo Limpo. A indústria produtiva extrai recursos naturais que são finitos ou cuja capacidade de regeneração não suporta os atuais níveis de consumo. Mantendo-se os padrões de hoje, haverá escassez e pressão sobre custos dos materiais, um processo que não é economicamente nem ambientalmente sustentável. Em outras palavras, descartar materiais como resíduos a serem depositados em aterros após sua primeira aplicação é como enterrar dinheiro. A economia circular busca uma nova maneira de projetar, fazer e consumir respeitando os limites do planeta e gerando valor. Trata-se de uma mudança sistêmica, que só pode ser feita a partir de uma ampla rede de colaboração. Não é mais possível pensar no processo de produção e consumo apenas em design, características funcionais, qualidade e custos. É fundamental incluir nesse processo requisitos como a escolha de materiais reciclados e que facilitem a reciclagem, fáceis de desmontar e reaproveitar suas peças e matérias-primas. Dessa forma, o modelo propõe elevar a capacidade de uso e reúso de bens e recursos naturais à máxima produtividade, mantendo-os na economia e gerando valor: esses resíduos tornam-se novamente matéria-prima para a sua própria produção (também conhecido como ciclo fechado) ou têm seus componentes destinados a outros segmentos da indústria (a chamada “segunda vida de um insumo”). Esse sistema circular gera benefícios para o meio ambiente – 75% da energia consumida na fabricação de um produto é gasta na extração e refino da matéria-prima –, estimula a inovação e o desenvolvimento tecnológico e tem potencial para gerar novos empregos. Pesquisas mostram que no ciclo da manufatura apenas 25% da mão de obra é alocada na extração e refino dos insumos e os demais estão destinados à produção de peças e montagem de produtos4. Circularidade da economia no Sistema Em 2008, foi criada a Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos S.A para seguir avançando na gestão de resíduos. Idealizada pelo inpEV, a empresa recicladora se tornou uma das parceiras do Sistema e viabilizou uma importante evolução tecnológica: permitiu o desenvolvimento da primeira embalagem de defensivo agrícola fabricada a partir das resinas recicladas de embalagens pós-consumo desse mesmo produto. A Ecoplástica® é única no mundo. Produzida com polietileno de alta densidade 100% 4
Estudos feitos por Walter Stahel, um dos precursores da economia circular, citado por Carlos Ohde no livro Economia Circular: um modelo que dá impulso à economia, gera empregos e protege o meio ambiente.
196
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
reciclado, ela conta com três camadas, sendo a interna de resina virgem e as demais recicladas, oferecendo alto desempenho e segurança – a Ecoplástica® tem certificação UN (grupo II, densidade 1,4 g/cm3) para transporte terrestre e marítimo de produtos perigosos. Em 2014, foi inaugurada a Campo Limpo Tampas e Resinas Plásticas Ltda, subsidiária da primeira e equipada para produzir um sistema de vedação de alta performance, a Ecocap®. Juntas, a Ecoplástica® e a Ecocap® oferecem uma solução completa e permitem fechar o ciclo de gestão das embalagens dentro da própria cadeia. O material pós-consumo se torna novamente insumo para a fabricação, uma experiência também chamada de “do berço ao berço” (cradle to cradle, em inglês). Além de reinserir os resíduos como matéria-prima no processo produtivo, evitando desperdício de recursos já extraídos da natureza, as embalagens recicladas proporcionam outras vantagens. Comparada à produção de uma similar com plástico virgem, a fabricação da Ecoplástica emite 65% menos emissões de gases de efeito estufa (GEE) e consome 80% menos água e 65% menos energia. O complexo industrial Campo Limpo está instalado em Taubaté (SP) e também atua como um núcleo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o reaproveitamento de materiais. Todavia, em parceria com o cliente, desenvolve soluções de embalagens inovadoras e personalizadas para atender a especificidades de diferentes linhas de produção. O crescimento na demanda por essas embalagens permitiu a ampliação do parque fabril de Taubaté e a inauguração de uma nova unidade, em Ribeirão Preto (SP), para atender a demanda da região por embalagens recicladas com alta performance. Ambas as recicladoras comprovam mais uma vez o potencial da economia circular como modelo de negócios, em que é possível desenvolver soluções de embalagens que aliem alto desempenho e sustentabilidade. É também um mecanismo de geração de riqueza, com novos empregos, redução de custos com extração de novas matérias-primas e do uso de recursos naturais. A Campo Limpo e a sua subsidiária, a Campo Limpo Tampas, têm como acionistas empresas fabricantes de defensivos agrícolas e sua operação também é importante para a busca da autossuficiência econômica do modelo de logística reversa das embalagens vazias desses produtos, gerando recursos que são reinvestidos no próprio Sistema Campo Limpo. Educação ambiental Além das atividades ligadas diretamente à destinação das embalagens, o inpEV também desempenha um papel fundamental na conscientização e educação ambiental de agricultores e da sociedade em geral.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
197
Para promover a reflexão sobre a conservação do meio ambiente, o inpEV criou o Programa de Educação Ambiental (PEA) Campo Limpo que, desde 2010, contribui para a conscientização de estudantes do Ensino Fundamental. O material produzido tem carácter dinâmico e estimulante e trata, especialmente, das responsabilidades compartilhadas na gestão dos resíduos sólidos, incluindo o papel das comunidades e das escolas. Todos os anos, o programa distribui gratuitamente milhares de kits educacionais a alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Entre 2010 e 2019, cerca de 1,6 milhão de estudantes foram beneficiados. Apenas em 2019, 9 mil kits educativos foram distribuídos para 2,5 mil escolas públicas e privadas. Com uma atuação consistente há quase uma década, o PEA foi selecionado como exemplo de boas práticas pelo Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais (UNDESA, na sigla em inglês). Em 2019, o programa incorporou em seu plano a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de forma lúdica e colaborativa. Um jogo de tabuleiro foi idealizado para estimular as crianças a refletirem sobre as atitudes sustentáveis antes e depois do consumo. Os conteúdos pedagógicos do PEA também estão alinhados à Base Nacional Curricular Comum (BNCC). O Dia Nacional do Campo Limpo (DNCL) é uma celebração dos resultados do programa realizada anualmente em 18 de agosto, em todo o Brasil. Os eventos são realizados desde 2005 e já reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Apenas em 2019, foram realizadas ações em 22 estados, abrangendo 78 mil participantes, entre comunidades, escolas, universidades, parceiros, agricultores, recicladores, entre outros, reconhecendo a importância do envolvimento de todos os elos da cadeia. Neles, são realizadas atividades lúdicas e educativas associadas ao funcionamento do Sistema e à conservação ambiental. Uma plataforma de Ensino a Distância, atualizada em 2019, também dissemina a logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas e apresenta o Sistema Campo Limpo. Com três horas de duração, oferece informações sobre o tema seja para pessoas diretamente envolvidas no Sistema, estudantes, profissionais de logística e de outros setores, mesmo da zona urbana. A nova versão da plataforma inclui mecanismos que tornam o curso mais interativo, facilitando a absorção de conteúdo. Transparência e prestação de contas O compromisso com a transparência e o empenho em partilhar conhecimentos e experiências relevantes, que contribuam com o papel de educar e conscientizar, está presente também nas estratégias de comunicação do Sistema, apoiadas pelo inpEV.
198
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Anualmente, desde 2005, o Instituto publica seu Relatório de Sustentabilidade, que reúne as informações mais relevantes sobre a atuação, incluindo as Demonstrações Financeiras auditadas. O relatório segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), modelo mais utilizado no mundo para esse tipo de divulgação, e já foi reconhecido duas vezes como o melhor relatório anual na categoria Organizações não Empresariais pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). Todas as edições estão disponíveis no site do inpEV (www.inpev.org.br), outro importante meio de comunicação com os elos do Sistema. O canal divulga as principais iniciativas do programa e informativos bimestrais contabilizam o volume de embalagens destinadas. CONCLUSÕES No Sistema Campo Limpo, indústria fabricante, canais de distribuição, agricultores e poder público compartilham a responsabilidade pela logística reversa e a correta destinação das embalagens vazias de defensivos agrícolas regularmente comercializados e das sobras pós-consumo. Seu funcionamento é normatizado por meio da Lei Federal 9.974/2000 e do Decreto Regulamentador 4.074/2002, que definiu claramente os papéis e obrigações de cada elo da cadeia agrícola. Operando desde 2002, ele é referência internacional em abrangência: de cada 100 embalagens primárias que a indústria coloca no mercado, 94 são recuperadas. No acumulado, o Sistema destinou corretamente 550 mil toneladas de embalagens vazias e 100 toneladas de embalagens com sobras pós-consumo. As dimensões físicas da estrutura também são relevantes. O Sistema está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com uma estrutura fixa de mais de 400 centrais e postos de recebimento, além de uma agenda anual de Recebimentos Itinerantes (RI), que atendem os pequenos agricultores de localidades distantes das unidades fixas de recebimento. A circularidade do Sistema se concretiza com a produção da primeira embalagem para defensivos agrícolas fabricada a partir da sua própria resina reciclada, em um desenvolvimento pioneiro no mundo. Essa visão inovadora e a busca contínua pela eficiência fazem parte da trajetória do programa, assim como o investimento contínuo em educação ambiental e engajamento, que ajudam a um só tempo manter todos os elos integrados e alertar para a importância de manter o campo ambientalmente seguro e produtivo. Muitos dos desafios que moldaram a estruturação do Sistema estão presentes em outros setores econômicos, responsáveis pela fabricação de bens de consumo duráveis ou que dependem de embalagens para acondicionar, proteger e facilitar o transporte dos produtos para os consumidores finais.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
199
São exemplos desses desafios a capilaridade do consumo, distribuído por um país de dimensões continentais, a necessidade de se estabelecerem claramente responsabilidades e obrigações de todos os participantes da cadeia, o papel fundamental da educação e do engajamento de todos, e a consciência de que somente uma abordagem setorial conjunta pode levar a resultados efetivos. Essas características são ainda mais relevantes quando se considera que conceito da responsabilidade compartilhada, que norteia todo o funcionamento do Sistema Campo Limpo, é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Instituída pela Lei Federal 12.305/2010, a PNRS vem sendo implantada paulatinamente por meio de acordos setoriais, e representa a principal diretriz para a gestão de resíduos sólidos urbanos no país. Vale ressaltar que o próprio contexto em que o Sistema atua está em evolução e apresenta desafios que necessitam ser melhor dimensionados. Um exemplo é o marco fiscal e tributário para materiais reciclados, que tem o potencial de impulsionar mudanças no fluxo produtivo, do modelo linear de produção-consumo-descarte para uma abordagem circular, que amplia a vida útil de materiais e insumos por meio da sua reinserção no sistema. Como desonerar a logística reversa? A gestão dos resíduos sólidos e os benefícios ambientais advindos disso poderiam ser incentivados, na forma de isenção ou subsídios? Quais os impactos dessas mudanças? Essas são questões relevantes que merecem ser debatidas. Até aqui, a trajetória do Sistema tem sido marcada pelo aperfeiçoamento constante. Esperamos que os aprendizados desse processo possam servir de insumo para discussões com outros segmentos e a construção conjunta de conhecimento.
Capítulo 16 O Papel do Poder Público Municipal na Implementação da Agenda 2030: Desafios na Gestão de Recursos Hídricos e Sólidos Paula Monteiro Danese Rafael de Oliveira Costa
INTRODUÇÃO Atualmente, os governantes e a sociedade civil vêm enfrentando constantes desafios de variadas ordens, seja no âmbito da implementação de políticas públicas sociais, seja no combate e prevenção a danos ambientais e ecológicos que cada vez mais ganham proporção. Para tanto, no plano internacional foi elaborado um documento chamado de “Agenda 2030” pela Organização das Nações Unidas por intermédio do qual se vislumbram algumas métricas que precisam ser efetivamente implementadas a fim de que se consiga enfrentar e minimizar os problemas sociais e ecológicos apresentados em escala global. O mencionado documento trata-se de um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Tem como escopo fortalecer a paz mundial enfrentando questões que são comuns entre todas as nações do mundo, tais como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, fome zero e agricultura sustentável, educação de qualidade, ação contra a mudança global do clima, entre outros.1 Contudo, no presente artigo iremos trabalhar com assuntos pontuais, tais como a gestão de recursos hídricos e sólidos e o desafio do Poder Público Municipal na sua implementação, objetivando obviamente colocar em prática essas métricas estabelecidas a título global que objetivam promover a inclusão social, redução dos estigmas e problemas sociais, o acesso a água potável e encanada e o devido manejo e destinação dos rejeitos humanos e das empresas nos aterros sanitários. 1
Objetivos do Milênio (ONU). Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 01.03.2020.
202
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Trata-se de uma tarefa árdua como será adiante explicado, sendo necessário que o gestor municipal realize uma verdadeira simbiose entre as reais necessidades da população local que está sob o seu cuidado e as reais possibilidades que detêm a sua disposição no sentido de delimitar métricas e planos de atuação, por intermédio de políticas públicas que viabilizem e ensejem trabalhar com pontos sensíveis no Município em que atua. 1. AGENDA 2030 E O PAPEL DO PODER PÚBLICO NA SUA IMPLEMENTAÇÃO Como acima apontado, a Agenda 2030 trata-se de uma iniciativa das Nações Unidas criada com o intuito de disseminar objetivos comuns para todos os países até o ano de 2030, traçando metas e objetivos de desenvolvimento sustentável a fim de que seja possível operar uma sensível redução nas questões mais comuns e que ainda são a principal preocupação das autoridades internacionais e organizações da sociedade civil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): A Agenda 2030 do ODS, ampla e ambiciosa, transcende mandatos políticos e demanda planejamento de longo prazo. Na nova agenda para o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a promoção da prosperidade passam por uma revisão profunda dos modelos atuais de desenvolvimento. Além da ampliação do financiamento, temas como tecnologia e capacitação, estabilidade macroeconômica, coerência política e instituições sólidas são centrais para a implementação da agenda.2
A agenda reflete os novos desafios de desenvolvimento e está ligada ao resultado da Rio+20 – Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em 2012. O Relatório final apresentado após o início das negociações foi intitulado “O Caminho para a Dignidade até 2030: Acabando com a Pobreza, Transformando Todas as Vidas e Protegendo o Planeta” e é resultado de um trabalho de dois anos, que mobilizou milhares de pessoas em todos os países do mundo. Para o então Secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o resultado expressa a visão clara dos Países-membros e o seu desejo de ter uma agenda que possa acabar com a pobreza, alcançar a paz e a prosperidade, proteger o planeta e não deixar ninguém para trás.3 2
3
IPEA, ERRADICANDO A POBREZA E PROMOVENDO A PROSPERIDADE EM UM MUNDO EM MUDANÇA Subsídios ao acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180308_ODS_erradicacao_da_pobreza.pdf. Acesso em: 22 de agosto de 2019. ONU, Secretário-geral da ONU apresenta síntese dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-onu-apresenta-sintese-dos-objetivosde-desenvolvimento-sustentavel-pos-2015/. Acesso em: 20 de agosto de 2019.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
203
A Agenda 2030 já estabelece em seu preâmbulo o seu objetivo: Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.4
A agenda, portanto, busca uma ação em conjunto com os atores do direito internacional para erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, como requisito para o desenvolvimento sustentável. Para tanto, elenca seus 17 (dezessete) objetivos: 1. Erradicação da pobreza, 2. Fome zero e agricultura sustentável, 3. Saúde e bem-estar, 4. Educação de qualidade, 5. Igualdade de gênero, 6. Água potável e saneamento, 7. Energia limpa e acessível, 8. Trabalho decente e crescimento econômico, 9. Indústria, inovação e infraestrutura, 10. Redução das desigualdades, 11. Cidades e comunidades sustentáveis, 12. Consumo e produção responsáveis, 13. Ação contra a mudança global do clima, 14. Vida na água, 15. Vida terrestre, 16. Paz, justiça e instituições eficazes e 17. Parcerias e meios de implementação.5 Tanto o objetivo 6 quanto o 15 tratam sobre a disponibilidade e gestão sustentável da água e da proteção do ecossistema e reversão à degradação terrestre. Nesse sentido, como a Agenda 2030 visa unir esforços do Estado, das Empresas e da sociedade como um todo, importante verificar quais medidas entre as políticas públicas municipais estão atreladas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os ODS poderão ser identificados pelos Agentes da Fiscalização tanto em itens de planejamento de políticas públicas e do orçamento, quanto na implantação dessas ações, necessitando para tanto de um reconhecimento do grau de preparação do poder público para que os ODS sejam alcançados no plano local, observando pontos tais como legislação sobre resíduos sólidos, se as propostas de metas são reais e possíveis no contexto do município, se tais metas estão alinhadas com os ODS e demais diretrizes nacionais. 2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS EM SP – UM ESTUDO SOBRE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS Como sabemos, a gestão dos recursos hídricos e sólidos é essencial para que se tenha desenvolvimento econômico, social e urbanização. Sem a estrutura 4
5
ONU, Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesos em: 22 de dezembro de 2019. Objetivos do Milênio (ONU). Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 01.03.2020.
204
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
mínima é impossível que uma cidade cresça da maneira correta e atenda às necessidades da população. Nesse sentido, pode-se entender como recursos hídricos a parcela de água doce existente na natureza que se encontra à disposição do homem, podendo por ela ser utilizada seguindo as diretrizes legais mínimas de proteção à natureza. No Brasil, existe uma lei específica responsável por imprimir a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), a qual prevê instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal (quando as águas atravessam mais de um Estado ou fazem fronteira) e por criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).6 O objetivo da instituição do mencionado órgão é o de coordenar a gestão integrada das águas, solucionar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, implementar a Política Nacional dos Recursos Hídricos, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.7 Uma boa gestão dos recursos hídricos traz inúmeros benefícios à população, tais como: água potável, água encanada, preservação do meio ambiente, controle da poluição hídrica, correto emprego das técnicas de ampliação das vias hídricas, correto emprego dos rejeitos e lixos advindos de empresas e seres humanos, melhor aproveitamento da água disponível, reconhecimento da água como fator de produção de diversos setores das atividades econômicas e sociais, como agricultura, indústria, comércio, pesca, saneamento básico, obras públicas, entre outros. A poluição das vias hídricas é um grave problema que vem sendo enfrentado há décadas no Brasil e em São Paulo, dado que inúmeros rios estão completamente poluídos e inviáveis para o uso humano, tais como os rios Tietê e Pinheiros. Infere-se que a poluição dos recursos hídricos prejudica o abastecimento humano, a produção de alimentos, a pesca, o lazer e a vida marinha. Entre os vilões que contaminam as águas estão o esgoto doméstico, o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde em 1972 define poluição hídrica como: A água considera-se poluída quando a sua composição ou o seu estado tenham sido alterados de forma a torna-la menos adequada para algumas ou todas as utilizações a que poderia servir em seu estado natural.8 6
7
8
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/LEIS/L9433.htm. Acesso em: 03.03.2020 Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Artigo 32. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm. Acesso em: 03.03.2020. A Gestão dos Recursos Hídricos (Conceitos e princípios fundamentais). Disponível em: https://cetesb.sp.gov. br/escolasuperior/wp-content/uploads/sites/30/2016/06/Fernando_Iorio_Carbonari.pdf. Acesso em: 03.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
205
Foi realizado um diagnóstico pela Fundação SOS Mata Atlântica, o qual foi responsável por monitorar os recursos hídricos das bacias do Alto e Médio Tietê e do litoral Norte e concluir que de 134 pontos de coleta analisados somente 4 (3%) apresentaram boa qualidade de água. Nesse sentido, foi possível verificar que a poluição está presente em 41 rios do Estado, todos considerados indisponíveis para atividades como abastecimento humano, produção de alimentos, pesca e lazer.9 Portanto, verifica-se que a gestão dos recursos hídricos tem o papel de colocar em prática técnicas que permitam obter, da utilização desses recursos, um benefício máximo para a coletividade, assegurando a manutenção da água, por tempo indefinido, em condições de utilização benéfica. Nesse sentido, vejamos: • a água é um bem indispensável à sobrevivência do homem; • a água é um fator de produção imprescindível e, em muitos casos, insubstituível da atividade econômica; • a água é um recurso natural renovável, embora em quantidade limitadas; • a água é um recurso móvel; • a água é um recurso de utilização intersetorial, visto que serve tanto para o setor primário (agricultura, pesca), como para o setor secundário (indústria e energia), como ainda para os serviços (transporte, saúde).10
É importante mencionar que a execução de uma política de gestão de águas deve atender às perspectivas globais de desenvolvimento, fixando objetivos a serem atingidos, metas de curto, médio e longo prazo, a fim de que se tenha transparência e uma direção exata dos rumos a serem implementados no sentido de promoção do desenvolvimento sustentável, urbanização e correto manejo dos recursos hídricos e sólidos. Ademais, infere-se que a falta de recursos hídricos e o aumento dos conflitos pelo uso da água geraram a emergência da conservação e do tratamento e reúso, como componentes formais de gestão de recursos hídricos. É essencial o reaproveitamento e reutilização da água recuperada para usos benéficos sempre mantendo-se elevado grau de qualidade e pureza a fim de que se promova a proteção ambiental e a promoção de técnicas de desenvolvimento sustentável. Nas regiões áridas e semi-áridas, a água se tornou um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Planejadores e entidades gestoras 9
10
Só 3% dos rios de São Paulo estão limpos. Disponível em: https://www.saneamentobasico.com.br/ 3-rios-sp-sao-limpos/. Acesso em: 03.03.2020. A Gestão dos Recursos Hídricos (Conceitos e princípios fundamentais). Disponível em: https://cetesb. sp.gov.br/escolasuperior/wp-content/uploads/sites/30/2016/06/Fernando_Iorio_Carbonari.pdf. Acesso em: 03.03.2020.
206
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
de recursos hídricos buscam novas fontes de recursos para atender às demandas crescentes, especialmente dos setores domésticos e industriais (...). Diversos países do Oriente Médio, onde a precipitação média oscila entre 100 e 200 mm por ano, dependem de alguns poucos rios perenes e pequenos reservatórios de água subterrânea, geralmente localizados em regiões montanhosas, de difícil acesso. Em muitos desses países, a água potável é proporcionada por meio de sistemas de dessalinização da água do mar, e, pela impossibilidade de manter uma agricultura irrigada, mais de 50% da demanda de alimentos é satisfeita mediante importação de produtos alimentícios básicos11
Antevendo a necessidade de modificar políticas ortodoxas de gestão de recursos hídricos, especialmente em áreas carentes, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas propôs, em 1958, que: “a não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para usos que toleram águas de qualidade inferior”.12 Destarte, depreende-se que as águas de qualidade inferior, tais como esgotos de origem doméstica, efluentes de sistemas de tratamento de água e efluentes industriais, águas de drenagem agrícola e águas salobras, devem, sempre que possível, ser consideradas fontes alternativas para usos menos restritivos. Ademais, a tecnologia deve ser usada como ferramenta para transformar esses insumos, provindo de rejeitos, em material propício ao uso humano. A Agenda 21, documento básico produzido pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (UNCED, 1992) com o objetivo de enfrentar os desafios ambientais do século XXI, também dedicou importância especial ao reúso, recomendando aos países participantes a implementação de políticas de gestão dirigidas para o uso e reciclagem de efluentes, integrando proteção da saúde pública de grupos de risco com práticas ambientais adequadas. Nesse sentido, vejamos: No Capítulo 21 – “Gestão ambientalmente adequada de resíduos líquidos e sólidos”, área Programática B – “Maximizando o reuso e a reciclagem ambientalmente adequadas”, estabeleceu, como objetivos básicos: “vitalizar e ampliar os sistemas nacionais de reuso e reciclagem de resíduos”, e “tornar disponível informações, tecnologia e instrumentos de gestão apropriados para encorajar e tornar operacional, sistemas de reciclagem e uso de águas residuárias”.13
Na mesma senda, a Conferência Interparlamentar sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente realizada em Brasília em 1992, logo após a ECO-92, 11
12
13
HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. 1999. Disponível em: http:// www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142008000200009&script=sci_arttext. Acesso em: 03.03.2020. UNITED NATIONS, Water for industrial use. Economic and Social Council. Report E/3058STECA/50, United Nations, New York, 1958. Agenda 21. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. Acesso em: 03.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
207
recomendou o emprego de esforços, em nível nacional, para institucionalizar a reciclagem e reúso sempre que possível e promover o tratamento e a disposição de esgotos de modo a não poluir o meio ambiente.14 No tocante aos recursos sólidos, a Lei nº 12.305/10 responsável por instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e trazer diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de recursos sólidos conceitua estes últimos como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.15 Depreende-se que a aceleração do processo de urbanização e a estabilização da economia nos últimos anos colocaram em evidência o enorme volume de resíduos de construção de demolição que vem sendo gerado nas cidades brasileiras. São várias as consequências do grande volume de resíduos de construção e demolição (RCD) gerados nos centros urbanos, os quais advêm do fluxo irracional e “descontrolado” dos resíduos.16 Como se vê, uma característica comum aos sistemas de aterros nos municípios é a extrema “volatilidade” das áreas utilizadas para deposição de resíduos inertes. Seu esgotamento é extremamente rápido tanto pela elevada geração de RCD verificada em cada município, como pelo fato de que muitas áreas são de pequeno porte, inseridas integralmente na malha urbana, nas proximidades das regiões geradores dos resíduos.17 No tocante ao reúso da água, é possível inferir que através do ciclo hidrológico ela se constitui em um recurso renovável. Quando reciclada através de sistemas naturais, é um recurso limpo e seguro que é, através da atividade antrópica, deteriorada por intermédio da poluição. Contudo, não é recomendável que a água de reúso seja empregada para consumo humano, dado que há uma grande presença de organismos patogênicos que podem fazer mal à 14
15
16
17
HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142008000200009&script=sci_arttext. Acesso em: 03.03.2020. Lei de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 03.03.2020. HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142008000200009&script=sci_arttext. Acesso em: 03.03.2020. HESPANHOL, Ivanildo. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142008000200009&script=sci_arttext. Acesso em: 03.03.2020.
208
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
saúde humana, além obviamente de custos elevadíssimos na implantação de procedimentos com essa natureza.18 A Organização Mundial da Saúde não recomenda o reúso direto, ou seja, aquele provindo diretamente dos efluentes de uma estação de tratamento de esgotos a uma estação de tratamento de águas e, na sequência, ao sistema de distribuição. Por sua vez, o reúso indireto é aquele provindo de uma operação na qual utiliza-se um corpo hídrico (lago, reservatório ou aquífero subterrâneo) como hospedeiro de rejeitos de esgotos tratados com o objetivo de, após um longo período de detenção, tornar-se novamente adequado à distribuição.19 Desse modo, é essencial um planejamento estratégico das ações a serem executadas por parte das autoridades responsáveis, a fim de que o uso e manejo tanto dos recursos hídricos, quanto dos resíduos sólidos contribuam para o progresso econômico, urbano e social das cidades e observem preceitos de responsabilidade socioambiental e de proteção ao meio ambiente. 3. O PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE MANEJO DOS RESÍDUOS HÍDRICOS E SÓLIDOS – (OPÇÕES POLÍTICAS E PROPOSTAS) Cumpre informar que se trata de medida de ordem pública a incorporação das práticas de reúso nos planos nacionais, estaduais e municipais de gestão de recursos hídricos e desenvolvimento agrícola. Sabe-se que o reúso implica em redução de custos, principalmente se for associado a projetos de sistemas de tratamento, uma vez que os padrões de qualidade de efluentes, necessários para diversos tipos de uso, são menos restritivos do que os necessários para a proteção ambiental.20 Os elementos básicos para a promoção e regulamentação da prática sustentável de reúso de água no território nacional podem ser efetuados através das seguintes atividades: • estabelecer uma política de reuso, definindo objetivos e metas, tipos de reuso, áreas prioritárias e condições locais e/ou regionais para a implementação da prática; • propor estruturas institucionais para a promoção e gestão de programas e projetos de reuso a níveis nacional, regionais e locais; 18
19
20
HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 75. HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 76. HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 92.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
209
• estabelecer um arcabouço legal incluindo diretrizes, padrões e códigos de prática; • estabelecer um arcabouço regulatório, incluindo atribuições, responsabilidades, incentivos e penalidades; • definir os critérios de tratamento de efluentes para reuso e proposição de tecnologias adequadas para a prática em função de características climáticas, técnicas e culturais regionais ou locais; • estabelecer critérios para a avaliação econômico financeira de programas e projetos de reuso; • estabelecer normas e programas para informação, para educação ambiental e para participação pública nos programas e projetos de reuso; • estabelecer um sistema de monitoramento, avaliação e divulgação dos programas a níveis nacional, regionais e locais.21
Por sua vez, no âmbito Municipal, tem se que a competência municipal no planejamento e gestão do território foi ampliada com o modelo descentralizador adotado pelo Governo Federal. Nesse sentido, o artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988 diz que cabe ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.22 Para tanto, a manutenção de ações que fomentem e promovam o adequado ordenamento territorial, além de integrá-los com programas de outras áreas, como recurso hídrico e meio ambiente, se revela como essencial no controle e gestão dos recursos ambientais e na promoção do desenvolvimento sustentável. No ambiente urbano, a falta de planejamento vem contribuindo para crises de abastecimento de água e agravamento dos problemas sociais e ambientais decorrentes da falta de saneamento básico: despejo de esgotos domésticos e resíduos industriais, doenças de veiculação hídrica, acúmulo de lixo e poluição dos rios.23 A tecnologia consiste em um instrumento para medição de fenômenos hidrológicos, das derivações de água e conhecimento científico para avaliar a disponibilidade hídrica e a capacidade de autodepuração dos cursos de água, ou seja, o conhecimento requerido para o planejamento e a administração dos recursos hídricos. Os instrumentos são um conjunto de mecanismos, regras e normas técnicas, econômicas e legais que fornecem a base de atuação e vão condicionar a estruturação das instituições que compõem o sistema 21
22
23
HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 93. Constituição Federal (Art. 30, VIII). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm. Acesso em: 03.03.2020. OLIVEIRA, Ruan Carlos de M.; LIMA, Patrícia Verônica P. Sales; SOUSA, Rennaly Patrício. Gestão Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos no contexto do uso e ocupação do solo nos Municípios. Página 50. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1334/133450056004.pdf. Acesso em: 03.03.2020.
210
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
de gestão, como as políticas e os planos de recursos hídricos. Os recursos humanos compõem o conjunto dos tomadores de decisão, técnicos, usuários de água e interessados nas questões hídricas24
Verifica-se que o uso de esgotos, particularmente no setor agrícola, se trata de um importante elemento das políticas e estratégias de gestão de recursos hídricos. Tem-se que muitos países situados em regiões áridas e semiáridas, tais como os do norte da África e do oriente médio, consideram esgotos e águas de baixa qualidade como parte integrante dos recursos hídricos nacionais, equacionando a sua utilização junto a seus sistemas de gestão urbanos e rurais.25 Tem-se que uma política criteriosa de reúso tem o papel de transformar a problemática poluidora e agressiva dos esgotos em um recurso econômico e ambientalmente seguro. Nesse sentido, vejamos: No Brasil, os governos estaduais e federais deveriam iniciar, imediatamente, processos de gestão para estabelecer bases politicas, legais e institucionais para o reuso, tanto em relação aos aspectos associados diretamente ao uso de afluentes, como aos planos estaduais ou nacionais de recursos hídricos. Linhas de responsabilidade e princípios de alocação de custos, devem ser estabelecidos entre os diversos setores envolvidos, ou seja, companhias responsáveis pela coleta e tratamento de esgotos, os usuários que se beneficiarão dos sistemas de reuso, e o Estado, ao qual compete o suprimento adequado de água, a proteção do meio ambiente e da saúde pública. Em adição, e para assegurar a sustentabilidade, deve ser dada atenção adequada aos aspectos organizacionais, institucionais e socioculturais do reuso.26
Verifica-se, portanto, que os procedimentos adotados na preparação de planos para irrigação com esgotos são similares àqueles utilizados para a maioria das formas de planejamento da utilização de recursos hídricos, por conseguinte, de acordo com as oportunidades, características das demandas locais e as principais dimensões físicas, econômicas e sociais da área de projeto. Assim, a fim de avaliar a adoção de instrumentos de gestão dos recursos hídricos, é essencial que o gestor municipal observe seis dimensões: 1) as diretrizes emanadas do Órgão Gestor, sob pena de responsabilidade pessoal nas esferas pena, cível e administrativa; 2) política, seguindo o fundo e plano municipal de saneamento básico; 3) Regulação e fiscalização dos serviços; 4) 24
25
26
CONEJO, J. G. L. A outorga de usos da água como instrumento de gerenciamento dos recursos hídricos. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 28-62, abr./jun. 1993. p. 2. HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 83. HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 83.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
211
cobrança pela prestação dos serviços; 5) Controle social e conselho municipal de saneamento; e 6) fiscalização da qualidade da água e legislação municipal.27 CONCLUSÃO A Agenda 2030 trouxe um novo desafio na proteção de direitos básicos por todos os envolvidos em todas as suas esferas de atuação. A proteção do meio ambiente saudável visando às gerações presentes e futuras deve caminhar com um pragmatista tendo em vista soluções práticas e atuais para os problemas enfrentados em sua proteção. Como foi analisado, em alguns locais de deposição irregular de resíduos de construção e demolição não há a menor preocupação com a preservação ambiental, tratando-se de um problema de ordem pública, dado que esse tipo de comportamento tem se tornado padrão e traz inúmeros prejuízos a curto, médio e longo prazos. A atuação municipal nesse sentido se faz extremamente importante, principalmente no que diz respeito à utilização dos recursos hídricos, reúso de água e planejamento a disposição de resíduos sólidos, um grande desafio contemporâneo. Não se adentrou no aspecto de outros problemas que estimulam o surgimento de conflitos pelo uso da água, como, por exemplo, os latifúndios que concentram terra e também as principais fontes de água, sendo que grandes empreendimentos agrícolas usam em enorme quantidade os recursos hídricos e provocam consequentemente impactos ambientais, mas deixamos a reflexão sobre a complexidade do assunto. Assim, os mecanismos internos para se seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda que alguns tenham sido pensados e elaborados no âmbito municipal anteriormente a 2015, demonstram que o objeto de estudo é extremamente importante para a construção de um futuro sustentável. REFERÊNCIAS Agenda 21. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. Acesso em: 03.03.2020. ANA – Agência Nacional de Águas. Regiões Hidrográficas do Brasil. Caracterização geral e aspectos prioritários. Brasília, 2002. ASANO, T. et al. Water reuse, issues, technologies, and applications. New York: Metcalf & Eddy/AECOM, eds., McGraw Hill, 2007. BANCO MUNDIAL. World Bank Development Report, Development and the Environment, World Bank Development Indicators. Washington, DC: Oxford University Press, 1992. 308p. 27
OLIVEIRA, Ruan Carlos de M.; LIMA, Patrícia Verônica P. Sales; SOUSA, Rennaly Patrício. Gestão Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos no contexto do uso e ocupação do solo nos Municípios. p. 52. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1334/133450056004.pdf. Acesso em: 03.03.2020.
212
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
BOWDOIN COLLEGE. Brunswick, ME, 2006. Disponível em: http//www.academic.bowdoin.edu/classics/research/moyer/html/intro.shtml. CAVALLINI, J. M. Aquaculture using treated effluents from the San Juan Stabilization Ponds. Lima: Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences, 1996. CHRISTOFIDIS, D. Irrigação, a fronteira hídrica na produção de alimentos. Revista Irrigação & Tecnologia Moderna, n. 54, p. 46-55, 2002. CHRISTOVA-BOALL, D. et al. An investigation into greywater reuse for urban residential properties. Desalination, v. 106, n. 1-3, p. 391-7, 1996. CNA. Información General de los Districtos de Riego 03 e 100. Alfajayucan, Gerencia Estatal, Pajuca, Hidalgo, Mexico, Comision Nacional de Aguas. Cidade do Mexico, 1993. CREPALDI, D. V. et al. O Surubin na aquacultura no Brasil. Rev. Bras. de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v. 30, n. 3/4, p. 150-8, jul./dez. 2006. EDWARDS, P.; PULLIN, R. S. V. (Ed.) Wastewater-fed Aquaculture. Proceedings of the International Seminar on Reclamation and Reuse for Aquaculture, Calcutta, Bang-kok, Asian Institute of Technology, Environmental Sanitation Information Centre, 1990. ERIKSSON, E. et al. Characteristics of grey wastewater. Urban Water, v. 4, n. 1, p. 58-104, 2002. FALKENMARK, M. Water scarcity generates environmental stress and potential conflicts. Lewis Publishers, Inc.,1992. FOSTER, S. S. et al. Impacts of wastewater use and disposal on groundwater. Technical Report WD/94/95, British Geological Survey, Keyworth, 1994. Gestão Integrada de recursos hídricos em São Paulo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/ Gest%C3%A3o_integrada_de_recursos_h%C3%ADdricos_em_S%C3%A3o_Paulo. Acesso em: 03.03.2020. GIJZEN, H. J.; IKRAMULLAH, M. Pre-feasibility of Duck-weed based Wastewater Treatment and Resource Recovery. In: Bangladesh, Delft International Institute Infrastrctural, Hydraulic an Environmental Engineering and Bangladesh Project in Agriculture, Rural Industry, Science and Medicine (PRISM), Bangladesh, 1999. Hespanhol, I. Guidelines and Integrated Measures for Public Health Protection in Agricultural Reuse Systems. J. Water SRT-Agua, England, v. 39, n. 4, p. 237-49, 1990. HESPANHOL, I.; GONÇALVES, O. Conservação e reúso de água. Manual de Orientações para o Setor Industrial. São Paulo: Fiesp, Ciesp, 2005. v. 1. HESPANHOL, Ivanildo. Potencial de Reuso de Água no Brasil. Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 7, n. 4. out./dez. 2002, p. 75-95. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas de Saneamento, 2000. Disponível em: http://www. ibge.gov.br/home/estatística/população/atlas_saneamento. ICWE. The Dublin Statement and Report on the Conference and the International Conference on Water and the Environmental Development Issues for the Twenty-first Century. WMO. Genéve, Switzerland, 1992. INTER-PARLIAMENTARY Conference on Environment and Development. Final Document. Brasília, DF: Brazilian National Congress, 23-27 nov. 1992. JEFFERSON , B. et al. Technologies for domestic wastewater recycling. Urban Water, v. 1, p. 285-92, 1999. Lei de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 03.03.2020. LORENZI, J. L. S. Sistema principal de esgotos da RMSP – Capacidade instalada. In: Aquapolo ambiental. Uma parceria de sucesso. Unidade de Negócios de Tratamento de Esgotos da Metropolitana de São Paulo. Palestra apresentada na VIª Audiência de Sustentabilidade, São Paulo, Sabesp, 22 de abril 2008. MAY, S. Estudo do aproveitamento de águas pluviais para consumo não-potável em edificações. São Paulo, 2004. 159p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. MAY, S.; HESPANHOL, I. Caracterização e tratamento de águas cinzas para consumo não potável em edificações. Anais do XXX Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitária y Ambiental, Asociación Interamericana de Ingenieria Ambiental-AIDIS, Punta Del Este, Uruguay, 2006. METCALF & EDDY, Inc. Wastewater engineering – Treatment and reuse. 4. ed. New York: McGraw Hill, 2003.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
213
MIERZWA, J. C.; HESPANHOL, I. “Água na indústria – Uso racional e reúso”. Oficina de Textos. São Paulo, 2005. 143p. NOLDE, E. Greywater reuse systems for toilet flushing in multi-storey buildings - Over ten years of experience in Berlin. Urban Water, v. 1, n. 4, p. 275-84, 1999. Objetivos do Milênio (ONU). Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 01.03.2020. OLIVEIRA, Ruan Carlos de M.; LIMA, Patrícia Verônica P. Sales; SOUSA, Rennaly Patrício. Gestão Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos no contexto do uso e ocupação do solo nos Municípios. Disponível em: https://www.redalyc. org/pdf/1334/133450056004.pdf. Acesso em: 03.03.2020. OTTOSON, J.; STRENTSON, T. A. Faecal Contamination and Associated Microbial Risks. Water Research, v. 37, n. 3, p. 645-55, 2003. PDAA. Plano diretor de abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo. Consórcio Encibra S.A./Hidroconsult. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, São Paulo, Sabesp, 2006. PIO, A. A. B. Reflexos da gestão de recursos hídricos para o setor industrial paulista. São Paulo, 2005. 64p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo. Precipitação em estações distritais no município de São Paulo – Médias mensais. São Paulo: Secretaria das Administrações Regionais, Comissão Municipal de Defesa Civil, Comdec, 2001. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ LEIS/L9433.htm. Acesso em: 03.03.2020. SAMPAIO, A. O. Gestão da água na RMSP. Seminário Internacional Água: Avanços tecnológicos para um reúso sustentável, Cirra/Escola Politécnica da USP, 5-6 de dezembro 2005. SANTOS, D. C; ZABRACKI, C. Greywater characterization in residential buildings to assess it’s potential use. In: Proceedings of the CIB-W62 Symposium. Ankara, Turkey, 2003. SHENDE, G. B. Status of wastewater treatment and agricultural reuse with special reference to Indian experience on research and development needs. In: PESCOD, M. B. SILVA, A. C. P. et al. Reúso de água e suas aplicações jurídicas. São Paulo: Navegar, 2003. 111p. SWANSEA UNIVERSITY. Wales, UK, 2006. Disponível em: http//www.swan.ac.uk/classics/staff/ter/grst/ What’s%20what%20Things/aqueducts/htm. UNCED. Agenda 21, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 14.6.1992. UNITED NATIONS, Water for industrial use. Economic and Social Council. Report E/3058STECA/50, United Nations, New York, 1958. USEPA. United States Environmental Protection Agency. Guidelines for Water Reuse (EPA/625/R-04/108). Washington. DC, 2004. WHO. WHO Guidelines for the safe use of wastewater excreta and greywater. Wastewater and Excreta Use in Aquaculture, WHO, Unep, Genebra, Suíça, 2006. v.III.
Capítulo 17 Políticas Públicas de Ecomobilidade: A Circulação de Veículos Autônomos em Zonas Urbanas Andrea Martinesco Lilian Regina Gabriel Moreira Pires
INTRODUÇÃO Na década de 30, a industrialização mudou o eixo populacional no Brasil, a migração da área rural para a área urbana ocorreu sem nenhum processo de urbanização ordenado, as cidades cresceram sem planejamento ou controle. Essa desordem fundada na ausência de planejamento criou distanciamentos, exclusões e problemas de diversas ordens. O adensamento do território, em algumas cidades, provocou a aproximação e sobreposição do tecido urbano, onde não se encontra os limites antes conhecidos dos espaços, dos serviços, da economia e do ambiente cultural e as metrópoles são realidade, eis a consolidação do fato metropolitano1. Surgem as regiões metropolitanas, com cidades polos e cidades dormitórios. O Brasil conta com 74 Regiões Metropolitanas.2 De acordo com dados do IBGE, Em 2019, pouco mais da metade da população brasileira (57,4% ou 120,7 milhões de habitantes) se concentra em apenas 5,8% dos municípios (324 municípios), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Já os 48 municípios com mais de 500 mil habitantes concentram quase 1/3 da população (31,7%, ou 66,5 milhões de pessoas). Por outro lado, na maior parte dos municípios (68,2%, ou 3.670 municípios), com até 20 mil pessoas, residem apenas 15,2% da população do país (32,0 milhões de pessoas). 1
2
Fato Metropolitano: A metrópole é espaço de contradição, onde há constante desenvolvimento e ao mesmo tempo problemas sociais grandiosos. Normalmente, há uma cidade polo em torno da qual gravita a dinâmica metropolitana, ou seja, onde gravitam outros municípios. Surge o fato metropolitano, espaço densamente urbanizado, com pluralidade de cidades e de problemas. In PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira. Região metropolitana: governança como instrumento de gestão compartilhada, Belo Horizonte. Editora Forum, 2018, p. 21. De acordo com a pesquisa da Emplasa, disponibilizada no site da FENEM. Disponível em: http://fnembrasil.org/entidades-metropolitanas/. Acesso: março de 2020.
216
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Dos 17 munícipios com população superior a um milhão de habitantes, 14 são capitais estaduais. Esses municípios concentram 21,9% da população do País. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões).3
Nos centros urbanos e, em especial, nas metrópoles, há uma série de problemas que necessitam de atenção. Aqui, nosso recorte é com a mobilidade que obriga grande parte da população a consumir longo tempo nos deslocamentos em razão dos congestionamentos, impactando nos negócios, no meio ambiente e saúde das pessoas. Nesse contexto, repensar os modos de locomoção é medida que se impõe. Isso envolve o estimulo da mobilidade ativa, que inclui a bicicleta e o caminhar, a atenção para a melhoria do transporte público e o desenho da cidade, o enfrentamento da questão relativa ao combustível fóssil, com a discussão de outras matrizes energéticas, incluindo a eletrificação. De outro lado, temos a realidade da transformação digital e a pauta das cidades inteligentes, com várias demandas e realidades que já se incorporaram no cotidiano das pessoas e da economia, impondo a atividade regulatória do Estado. Sem entrar nas diversas óticas e pontos que suscitam dúvidas e regulação diante das chamadas “cidades inteligentes”, apresentamos um tema que está em discussão em vários países: o veículo autônomo. No Brasil, a tecnologia e sua aplicação potencial necessitam de compreensão, o que envolve o incentivo à pesquisa, bem como o quadro jurídico vigente deve ser analisado para identificar os pontos de bloqueio e possibilitar minimamente os testes em vias públicas. Evidentemente que introduzir o veículo automatizado no Brasil passa por diversos pontos de dificuldade a serem enfrentados: (i) infraestrutura das vias: sinalização, condição física das ruas, pontos de recarga de carros eletrificados, rede de comunicação e informação com os veículos e infraestrutura; (ii) convivência entre veículos automatizados, conduzidos por um sistema e veículos conduzidos por condutores humanos; (iii) questões éticas relativas à tomada de decisão por humanos e máquinas em situação real de tráfego; (iv) adequação às leis de proteção de dados pessoais; e (v) impactos na responsabilidade civil e penal, entre outros. Contudo, as dificuldades de sua utilização na atualidade não podem afastar o preparo governamental para essa realidade que se avizinha. Não se pode permitir que o País fique à deriva da tecnologia, tampouco que sejamos 3
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019. Acesso: março de 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
217
submetidos a regras oriundas de construtores sediados fora do País, sem adequação à realidade brasileira. Nas Cidades Inteligentes, humanas e sustentáveis, o papel do Estado ganha relevo, na medida em que é o responsável pela regulação e desenho de políticas públicas. É o responsável por implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento sustentável. Não por outra razão que vamos apresentar o estágio das discussões sobre os veículos autônomos e diante da possibilidade de o governo federal poder ser surpreendido com demandas de testes em vias públicas brasileiras, por pessoas jurídicas estabelecidas ou não no país, propomos dois caminhos que podem ser seguidos. JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL A expansão das áreas metropolitanas e a concentração de empregos nos centros urbanos são consideradas um fator preponderante para o aumento significativo do tempo deslocamento de boa parte da população em idade ativa. Um dos benefícios atendidos da circulação de veículos em modo automatizado é justamente a devolução do tempo gasto com a tarefa de dirigir aos motoristas que passam a ser meros passageiros4. Ademais, veículos autônomos têm o potencial de contribuir à fluidificação do trânsito e para uma mobilidade mais econômica, menos poluente, mais confortável e inclusiva5. Essa mobilidade dita inteligente pressupõe o engajamento de decisores públicos, poder público em todos os níveis, operadores de transporte público e comum, de eletricidade, de conectividade, bem como o desenvolvimento de regulamentação para que novos meios de mobilidade elétrica, comunicante e autônoma6 possam ser testados em vias abertas à circulação pública, com segurança jurídica a todos os envolvidos. 4
5
6
Para a identificação dos níveis de automatização, reportamo-nos à norma SAE J3016 revisada em junho de 2018. Disponível em: https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/. Pontos negativos apontados em estudos incluem, entre outros, o alto custo desses veículos, o impacto sobre o emprego no transporte público e comum, a ainda baixa aceitação da tecnologia entre os potenciais consumidores, a necessidade de toda estrutura de recarga elétrica dos veículos (IAU IdF (2019), Expérimentation et déploiement du véhicule autonome en Île-de-France. Le rôle facilitateur des pouvoirs publics, pp. 11-12). Segundo definição do Fórum Mundial sobre Segurança Viária das Nações Unidas (WP.1, CEE-ONU), um veículo totalmente automatizado é aquele equipado com um sistema de condução automatizada, entendido com a combinação de hardware e de software que permite o controle dinâmico do veículo de maneira prolongada. Por controle dinâmico, entende-se a execução de todas as funções operacionais e táticas em tempo real, necessárias ao deslocamento do veículo. Tal sistema funciona sem limitações ligadas ao domínio de concepção funcional durante uma parte ou a totalidade do trajeto, sem necessidade de intervenção humana para assegurar a segurança viária (V. ECE/TRANS/WP.1/2018/Rev.3). Pode-se, ainda, acrescentar que um veículo será autônomo quando o sistema for capaz de reagir a todas as situações por si mesmo, sem responder a uma programação humana, mas graças à autoaprendizagem (machine learning).
218
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Adotando o método proposto por Smith , é necessário que o governo federal incentive projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, qualifique servidores para compreensão da tecnologia e de sua aplicação potencial, bem como revise o quadro jurídico vigente, identificando os pontos de bloqueio. Para além de validar os sistemas embarcados nos cenários previstos para sua utilização, os testes permitem que a sociedade interaja com esses novos sistemas de transporte, vivenciando experimentações abertas ao público. Afinal, a aceitação social é parte primordial na implementação dos diferentes tipos de veículos autônomos8 à frota em circulação no país. Todos esses segmentos precisam dialogar entre si, tendo o poder público um papel de facilitador, para que os benefícios atribuídos aos veículos elétricos, comunicantes e automatizados sejam alcançados. Iniciativas de pesquisa acadêmica voltada ao desenvolvimento de veículos autônomos são encontradas no Brasil desde 2009, notadamente os veículos Iara9 e Carina10. Para esses projetos, foram adquiridos veículos disponíveis no mercado que foram modificados11, inserindo-se módulo de controle e hardware necessários para atuar nos comandos de direção, aceleração e frenagem, permitindo, dessa forma, que o sistema automatizado tenha controle sobre os movimentos laterais e longitudinais do veículo. Mais recentemente foi lançado o e.coTech4 Autônomo12, veículo urbano, compacto e elétrico desenvolvido a partir de uma plataforma própria, pensado como um veículo autônomo desde a concepção13. Por outro lado, não há notícias do desenvolvimento de micro-ônibus autônomos14 no país. Ora, tais veículos se encontram entre diferentes mundos normativos: normas e regulamentos referentes à segurança do veículo e de suas peças15, à eletrificação e aos objetos conectados (IoT). 7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SMITH, Bryant Walker (2016), How Governments Can Promote Automated Driving. New Mexico Law Review. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2749375. Para a circulação em centros urbanos, cite-se veículos de passeio, robotaxi e micro-ônibus. Laboratório de Computação de Alto Desempenho (Lcad). Disponível em: http://www.ufes.br/conteudo/ carro-aut%C3%B4nomo-da-ufes-realiza-viagem-in%C3%A9dita-at%C3%A9-guarapari. Laboratório de Robótica Móvel ICMC/USP – São Carlos. Disponível em: http://lrm.icmc.usp.br/web/ index.php?n=Port.Pesquisa. As exigências normativas em termos de segurança do veículo e do sistema, bem como a segurança viária são particularmente importantes nesse contexto. Produzido pela empresa Hitech Eletric em parceira com a Positivo Tecnologia, Lume Robotics (startup criada por alunos do Lcad/UFES. Disponível em: https://inforchannel.com.br/hitech-electric-lanca-primeiro-veiculo-autonomo-no-brasil/). O veículo é bimodal, ou seja, pode ser conduzido de modo manual ou autônomo, contando, portanto, com volante, pedal e itens de segurança como muito embora possua instrumentos para condução manual (volante e pedais), bem como itens de segurança airbag e cinto de 3 pontos para motorista e passageiros. Chamados, em inglês, de “Autonomous shuttles” e em francês de “navettes autonomes”, são veículos voltados à mobilidade do primeiro/último quilômetro. Notadamente, os regulamentos anexos aos acordos internacionais sob a égide do Working Party 29 (WP.29), da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE-ONU) e as normas ISO, v.g.
219
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
A mais recente publicação da empresa de auditoria KPMG , sobre o grau de prontidão e da receptividade de países para o uso de tecnologia de veículos autônomos, mostra a triste realidade nacional de último colocado. O Brasil não pontuou em quesitos fundamentais como o preparo do poder público para mudanças nessa área, notadamente aprovação de regulamentação e legislação, a capacidade da indústria em enfrentar políticas governamentais desfavoráveis e o número de projetos financiados pelo Estado. Esse contexto representa um desestímulo à indústria nacional e estrangeira. Assim é que construtores como a francesa Navya, que fabrica micro-ônibus elétricos, autônomos e compartilhados, que estão atualmente circulando em diversos países17, informou não possuir ações visando o mercado brasileiro, mesmo que o índice de aceitação do consumidor brasileiro seja bastante positivo18. No entanto, o governo federal pode ser surpreendido com demandas de testes de veículos automatizados em vias públicas brasileiras, por pessoas jurídicas estabelecidas ou não no país. Nesse caso, em que pese a ausência de uma regulamentação específica, o governo pode se socorrer prima facie das prescrições da Convenção sobre trânsito viário de 1968, à qual o Brasil está submetido, vez que a ratificou, integradas no Código de Trânsito Brasileiro. Pode ainda recorrer aos regulamentos técnicos da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE-ONU), que subsidiam o sistema de homologação e de certificação de veículos ao redor do mundo. A Convenção de Viena comporta, em seu Anexo 5, condições técnicas relativas aos veículos automotores, entre os quais freios, mecanismo de direção, espelho retrovisor, sinais acústicos, para-brisas e vidros. Em consequência, cada Estado signatário deve tomar medidas tendentes a garantir que as regras em vigor no território nacional19 cumpram essas disposições. No entanto, muitas dessas são específicas à presença de um condutor, pessoa física, havendo necessidade de ponderação para veículos autônomos20. 16
16
17
18 19
20
a ISO/TC 22 – veículos rodoviários e a ISO/SAE DIS 21434 – Road vehicles – Cybersecurity engineering (em desenvolvimento). KPMG (2019). Autonomous vehicles readiness index. Assessing countries’ preparedness for autonomous vehicles. Disponível em: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/2019-autonomousvehicles-readiness-index.html. Acesso em: 8 fev. 2020. O construtor francês Navya indica que seus veículos circulam em vias públicas e locais privados na Holanda, Suécia, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Luxemburgo, Japão, Inglaterra, Hong Kong, Áustria e França. Disponível em: https://navya.tech/shuttle/. KPMG (2019), p. 51. Cf. parágrafo único do art. 102 da Lei nº 9.502, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Cite-se, exemplificativamente, o grau de transparência dos vidros, a substituição do retrovisor por câmeras, o acionamento do pedal de freios e do volante pelo sistema, etc.
220
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
No entanto, a Convenção de Viena prevê a possibilidade de os Estados signatários derrogarem essas prescrições técnicas, em particular aos veículos destinados à experimentação, fruto de progresso tecnológico, para fins de aumentar a segurança na circulação viária, objetivo primeiro daquele tratado internacional. A pergunta que se coloca é a de saber como será avaliado cada dossiê. Na nossa opinião, é muito difícil que o governo federal tenha em seus quadros de servidores experts em veículos autônomos. Portanto, seria normal considerar que, em um primeiro momento, o auxílio virá de especialistas externos ao quadro. No entanto, à medida que um número maior de demandas seja submetido, será necessária a criação de um grupo específico para análise dos dossiês que comportam dados técnicos do protótipo, de extrema relevância, e do próprio projeto de experimentação, com seus diferentes cenários e riscos. A análise desse contexto é complexa e, a nosso ver, demanda competências multidisciplinares. Essa foi a forma adotada na França, quando do lançamento do plano Nova França Industrial21, que dispõe de um programa específico para pesquisa sobre veículos autônomos. O denominado “Grupo interserviços sobre veículos autônomos22” (GISVA), composto por representantes de diferentes ministérios e suas respectivas secretarias23, foi responsável pelo desenvolvimento de um protocolo destinado a validar cada dossiê a partir de 201424. À época, em caso de sucesso, o demandante recebia uma decisão ministerial autorizando o emplacamento do veículo no tipo W garage, que possibilitava a realização de testes em um ambiente bastante controlado25. Atualmente, as demandas seguem a regulamentação prevista no Decreto nº 2018-211 de 28 de março de 201826, com as disposições 21
22
23
24
25
26
França. La Nouvelle France Industrielle. Objectifs de recherché “véhicule autonome”, substituído pela Alliance pour l’industrie du futur, no qual o veículo autônomo passa a integrar a solução “mobilité écologique”. Do francês Groupe interservices sur le véhicule autonome. MARTINESCO, Andrea. (2018), circulação de veículos autônomos para fins experimentais em vias públicas na França. Artigo de reação ao trabalho apresentado na 1a Conferência sobre veículos inteligentes: segurança jurídica e tecnológica. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299995, p. 6. BOURSIER, Marie et al. (2017), Deux années d’expérimentation de véhicules autonomes en France, sur voies ouvertes à la circulation publique. Group inter-services sur le véhicule autonome. Congrès ATEC ITS France. A segunda autora participou na redação dos dossiês apresentados pelo Instituto VEDECOM, realizando uma análise jurídica que contribuiu para a decisão ministerial permitindo que dois protótipos de veículos autônomos de nível SAE 4 realizassem pela primeira vez uma demonstração pública com passageiros durante o Congresso ITS Bordeaux em outubro de 2015. Essa demonstração foi seguida de outras nas cidades de Versailles e Paris, bem como em Amsterdã (2016) e continuam sendo realizadas em diferentes cenários, v.g., a demonstração do projeto europeu AUTOPILOT na cidade de Versailles, em janeiro de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HGHeqMafO7w&feature=youtu.be. Décret no 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, JORF no0075 du 30 mars 2018, texte no 3.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
221
da Portaria de 17 de abril de 2018 , sendo atribuídas aos veículos placas do tipo WW DPTC28. O GISVA continua instruindo todas as demandas e ainda são requisitados pareceres a especialistas externos, quando necessário. Uma das formas de se evitar distorções nas análises dos dossiês técnicos é fixar uma classificação de níveis de automatização. Via de regra, os países adotam o standard J3016 da Society of Automotive Engineers (SAE), que estabelece a taxonomia e delineia definições em um formato descritivo e informativo29. O governo brasileiro adotou expressamente esse standard, conforme disposto no art. 18, § 4º, do Decreto nº 9.557, de 8 de novembro de 2018. Aparentemente, o Brasil está seguindo o caminho adotado na França, posto que esse decreto, entre outras disposições, institui um grupo técnico de veículos autônomos30 e tecnologias assistivas à direção31, para discussão e proposição de um plano nacional de veículos autônomos (art. 40, III). O cronograma de estudos técnicos está estabelecido no item 37 da Resolução CONTRAN nº 717, de 30 de novembro de 201132. É previsto que o trabalho técnico será realizado por grupo formado por membros da Câmera Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN, com a contribuição de experts nas áreas envolvidas, conforme Portaria nº 776, de 28 de dezembro de 201833. 27
POLÍTICAS PROPOSTAS EM OUTROS PAÍSES A análise das ações governamentais adotadas em diferentes países nos mostra dois caminhos que o Brasil pode eventualmente seguir. O primeiro é a adoção de um código de procedimentos para testes de veículos autônomos. Para os defensores da adoção de soft law34, notadamente 27
28
29
30
32 33 34 31
Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, JORF no0103 du 4 mai 2018, texte no 3. Délégation partielle ou totale de conduite, cf. art. 2, 1º da referida portaria. A última alteração datada de 7 de janeiro de 2019 trouxe um gráfico visual de mais fácil compreensão, especialmente voltado a consumidores leigos. Disponível em: https://www.sae.org/news/2019/01/ sae-updates-j3016-automated-driving-graphic. Isso é bastante importante na medida que a indústria se aproxima de um aumento na produção desses veículos. Esse standard define seis níveis de automatização, partindo do Zero (sem qualquer auxílio ou automatização) até o nível 5, quando é considerado como um veículo completamente autônomo. Há quem atribua a nomenclatura de veículos automatizados para sistemas de níveis 3 e 4 (posição da França no WP.1 da CEE-ONU). O SAE J3016 é o standard mais referenciado em trabalhos científicos que também fazem referência à classificação alemã BAST (2010) e a classificação da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, 2013) nos Estados Unidos. Níveis 3, 4 e 5. Níveis 1 e 2. DOU de 8 de dezembro de 2018. DOU de 31 de dezembro de 2018. Para aprofundar o tema: Matusalém G. Pimenta (2018), Uma visão contemporânea da soft law, Revista Jus Navigandi.
222
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
o governo britânico em 2015 , que inspirou o governo belga a publicar a sua regulamentação de forma similar no ano seguinte36, e a Austrália em 201737, a regulamentação deve evoluir a partir da análise dos dados coletados durante as experimentações. Assim, quanto maior o número de veículos em testes, maior quantidade de dados coletados em tempo real. Esse sistema é mais propício a acompanhar a evolução a passos largos da tecnologia e permite a alteração da regulamentação de forma facilitada. O segundo segue a adoção de normas emanadas do poder executivo (decretos e portarias), bem como a produção legislativa. Entre os países que adotam a segunda forma, tem-se aqueles que criam uma autoridade nacional, responsável procedimento de autorização de testes. É o caso da RDW holandesa38, um organismo semigovernamental de interesse público, responsável pelas primeiras autorizações no âmbito do congresso ITS à Helsinki em 2013. Desde julho de 2015, a Holanda possui uma legislação específica que coloca em evidência a preocupação com a segurança. Isso porque todos os veículos devem ser testados perante a autoridade RDW, nos quais são executadas manobras “happy flow”, à critério dos demandantes, seguidas de “stress tests”, nas quais os riscos são introduzidos deliberadamente pelo expert da agência39. A regulamentação adotada em Singapura40 não obrigada a execução de testes perante um organismo acreditado, como condição anterior à autorização. Todavia, em decorrência de uma série de alterações na lei de circulação viária em 201741, a autoridade nacional é autorizada a realizar um controle sobre veículos que já efetivaram testes autorizados em vias públicas, notadamente, mas de maneira não exclusiva, no que concerne à segurança do sistema de condução automatizada e da tecnologia embarcada. O procedimento adotado no Canadá prevê a consulta prévia à autoridade nacional em matéria de seguros. Isso se justifica posto que esse país possui características particulares. Primeiro, em razão das temperaturas que alcançam 35
35
36
37
38
39
40 41
UK Department for Transport (2015). The pathway to driverless cars: a code of practice for testing. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446316/pathway-driverless-cars.pdf. Federal Public Service Mobility and transport (2016). Autonomous vehicles. Code of practice for testing in Belgium. Disponível em: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/code_of_practice_en_2016_09.pdf. National Transport Commission (2017), Guidelines for trials of automated vehicles in Australia. Disponível em: https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/AV_trial_guidelines.pdf. A Holanda ocupa a primeira posição no ranking KPMG (2019). FEDDES, Gerben. (2018), Towards the legal admission of connected/automated vehicles. The contribution from a Vehicle Authority for legislation of automated systems », 25º ITS World Congress Copenhagen. Singapura ocupa o Segundo lugar no ranking KPMG (2019). Public Sector (Governance) Bill nº 45/2017.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
223
dois dígitos abaixo de zero, fazendo com que haja um acúmulo considerável de neve em vias e rodovias, e, ainda, pela existência de animais de grande porte com hábito de buscar locais com menos neve para se instalar. O Código de segurança viária foi alterado em 2018, prevendo que o ministro de transportes pode fixar um montante mínimo obrigatório de responsabilidade civil por prejuízos materiais causados por veículos autônomos42. Os Estados Unidos, por sua vez, são um exemplo à parte. Enquanto o governo federal tem competência para as normas de segurança veicular que permitem os conceitos inovadores dos veículos autônomos, incumbe a cada estado a regulamentação de testes. O raciocínio é que atualmente veículos autônomos não passam de veículos equipados de hardware e software suplementares. Nesse sentido, não precisam de derrogação especial do governo federal. A regulamentação estadual fez um patchwork de difícil coordenação43. Entretanto, essa margem de liberdade dos estados, atribuída em razão da estrutura federal, está sendo repensada no âmbito do projeto de lei AV START, com a contribuição das duas casas legislativas, na esperança de evitar as falhas anteriores44, sobretudo no que tange a dificuldade de estabelecer garantias de soluções de segurança desses veículos. Ademais, cabe destacar a iniciativa da uniformização com a edição da “Lei uniforme sobre o uso de veículos automatizados”45, um modelo de legislação que pode ser considerado pelos estados que pretendem regular a circulação desse tipo de tecnologia em vias abertas à circulação pública. CONCLUSÃO O governo brasileiro deve se preparar para as demandas de testes de veículos autônomos em centros urbanos. As derrogações ao quadro jurídico em vigor devem estar fundamentadas em alguns princípios, notadamente o “lear42
43
44
45
Art. 633.1, alínea 3. Como exemplo, o art. 20 da Portaria nº2018-16 de 9 de agosto de 2018, instituindo o projeto-piloto relativo a ônibus e micro-ônibus que fixa o montante mínimo de um milhão de dólares canadenses. Veículos de nível SAE 5 são aceitos no Arizona e na Califórnia. Um veículo autônomo pode circular sem um condutor humano no interior do veículo na Flórida, mas essa condição é aceita em Connecticut, Massachusetts, New York e Nevada. No Alasca, não há iniciativas desse tipo, mas por razões que nos parecem óbvias. Todavia, no Kansas, a tentativa de regulamentar testes em vias públicas não obteve sucesso. Refere-se especificamente ao fato de que a Câmara dos Deputados havia aprovado, em 2017, o Self Drive Act, visando acelerar a implementação de veículos autônomos no nível nacional e evitar que os estados estabelecessem padrões de desempenho que viessem a impedir esse avanço. O projeto de lei não chegou a ser votado no Senado até final de 2018 e perdeu validade. O próprio projeto de lei de iniciativa do Senado, chamado “AV START Act” não ganhou o apoio necessário em 2018. Uniform Law Commission (2019), Uniform automated operation of vehicles act. Disponível em: https:// www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=7d485d6f-5284-45d4-924b-ef3397947971.
224
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
ning by doing”, que é a progressividade da implementação através de experiências em condições reais, precedidos de testes em simuladores e em circuitos fechados. Enquanto objetos conectados, deve-se dar atenção especial às questões de cibersegurança e de proteção de dados pessoais. Ademais, conforme as discussões havidas nas sessões temáticas da Conferência Inmetro sobre veículos inteligentes46, sugere-se que o governo federal: (1) dê início aos trabalhos de pesquisa relacionados no item 37 do Anexo da Resolução CONTRAN nº 717, de 30/11/2017, em atenção ao Decreto nº 9.557, de 08/11/2018, no primeiro semestre de 2020; (2) designe uma autoridade nacional que seria destinatária dos relatórios produzidos pelos diferentes grupos de trabalho (legislação, regulamentação, certificação e homologação, cibersegurança, fatores humanos, modelos de negócio, seguro, ética), sendo o interlocutor com os mais altos níveis de governo federal para subsidiar decisões de políticas públicas; (3) em caráter urgente, que promova a criação de um grupo técnico para elaboração de um procedimento a ser adotado para análise das primeiras demandas de experimentação em vias públicas brasileiras; (4) promova a criação de uma plataforma colaborativa para compartilhamento de dados sobre testes e demonstrações de veículos autônomos, para subsidiar a análise de dados pela administração pública (estados e municípios) que desejem inscrever áreas de testes no programa nacional sobre veículos autônomos, bem como subsidiar informações ao público; e (5) proceder à internação das alterações à Convenção sobre trânsito viário (1968), em vigor desde 26/03/2016. REFERÊNCIAS FEDDES, Gerben. Towards the legal admission of connected/automated vehicles. The contribution from a Vehicle Authority for legislation of automated systems », 25º ITS World Congress Copenhagen. 2018. PIMENTA, Matusalém. Uma visão contemporânea da soft law. Revista Jus Navigandi. 2018. Disponível em: jus. com.br › uma-visao-contemporanea-da-soft-law. PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira. Região metropolitana: governança como instrumento de gestão compartilhada, Belo Horizonte: Editora Forum, 2018. MARTINESCO, Andrea. Circulação de veículos autônomos para fins experimentais em vias públicas na França. Artigo de reação ao trabalho apresentado na 1a Conferência sobre veículos inteligentes: segurança jurídica e tecnológica. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299995. 46
A 1a Conferência sobre veículos inteligentes: segurança jurídica e tecnológica para inserção no Brasil, uma iniciativa do Inmetro e da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com o apoio da Casa Firjan, teve como principal objetivo a identificação, nos diferentes níveis de governo, indústria e academia, das ações necessária para a implementação das tecnologias para veículos autônomos com qualidade e segurança. O evento sob responsabilidade do grupo de trabalho nomeado pela Portaria Inmetro nº 326/2017, do qual a segunda autoria é parte integrante, foi realizado entre os dias 26 e 29 de novembro de 2018, no Rio de Janeiro. As apresentações estão disponíveis na página do Inmetro. O relatório com recomendações será publicado em breve no sítio do Inmetro.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
225
SÍTIOS ELETRÔNICOS http://fnembrasil.org/entidades-metropolitanas/, acesso março de 2020. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019. https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2749375). http://www.ufes.br/conteudo/carro-aut%C3%B4nomo-da-ufes-realiza-viagem-in%C3%A9dita-at%C3%A9-guarapari. http://lrm.icmc.usp.br/web/index.php?n=Port.Pesquisa. Lcad/UFES: https://inforchannel.com.br/hitech-electric-lanca-primeiro-veiculo-autonomo-no-brasil/. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/2019-autonomous-vehicles-readiness-index.html https://www.youtube.com/watch?v=HGHeqMafO7w&feature=youtu.be). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446316/ pathway-driverless-cars.pdf). https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/AV_trial_guidelines.pdf). https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey =7d485d6f-5284-45d4-924b-ef3397947971.
Capítulo 18 Inovação em Adaptação e Mitigação Climática para Cidades Inteligentes e Resilientes Debora Sotto
JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO NO PROBLEMA Em mundo cada vez mais urbano, as mudanças climáticas se colocam como um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela humanidade. Em que pese as alterações do clima decorrentes da concentração de gases com efeito estufa de emissão antrópica na atmosfera sejam um fenômeno de caráter global, os riscos, vulnerabilidades e efeitos adversos decorrentes do aquecimento global são e serão experimentados pela população em escala local, nas cidades (UN-HABITAT, 2017, p. 2). No Brasil, essa circunstância é especialmente significativa, uma vez que cerca de 85% da população brasileira habita as cidades, que por sua vez ocupam uma área correspondente a não mais do que 0,63% do território nacional (EMBRAPA, 2017). Ou seja, o Brasil é um país populacionalmente urbano e territorialmente rural, o que deve ser considerado no processo de estruturação das políticas de mitigação, adaptação e resiliência climática em âmbito nacional, regional e local. Como Nação signatária da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – UNFCCC, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, o Brasil assumiu o compromisso, por meio de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas – NDC, de reduzir suas emissões totais de gases com efeito estufa em 37% até o ano de 2025, em comparação com os índices de 2005, com a meta complementar de reduzir 43% de suas emissões até o ano de 2030 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Segundo o Inventário de Emissões Nacionais de Gases com Efeito Estufa, elaborado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC para o ano de 2015, os setores da agropecuária e da alteração do uso do solo, afetos às atividades econômicas de caráter “rural”, respondem juntos por 55% das emissões nacionais de gases com efeito estufa, sendo que o setores de Energia, Processos Industriais e Gerenciamento de resíduos, mais afetos às
228
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
atividades econômicas de natureza “urbana”, respondem pelos restantes 45% das emissões nacionais (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES, 2017). O exame da evolução das emissões nacionais de 1990 a 2015 confirma o peso que a agropecuária e a alteração do uso do solo exercem sobre o total das emissões nacionais. Os picos e baixas das emissões totais no período correspondem exatamente aos picos e baixas das emissões do setor de uso do solo, conectando-se diretamente ao aumento e à diminuição do desmatamento, sobretudo da Floresta Amazônica, em estreita associação à expansão da agropecuária no território nacional. A distribuição de emissões nacionais de gases com efeito estufa, fortemente associada a atividades de caráter essencialmente rural, indica que as cidades brasileiras têm mais a contribuir para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil em sua NDC com ações de adaptação e resiliência do que com ações de mitigação. Isso porque as emissões urbanas se concentram sobretudo no setor de transporte – pelo consumo de combustíveis fósseis – e energia estacionária, os quais têm relativamente pouca repercussão sobre os totais de emissões nacionais, em que pese tenham grande importância para a proteção da qualidade do ar e do microclima nas cidades. Nesse sentido, a Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC assumida voluntariamente pelo Brasil nos termos do Acordo de Paris enumera como itens fundamentais para as políticas nacionais de adaptação ações essencialmente urbanas, pertinentes à gestão das áreas de risco, habitação, infraestrutura básica, saúde, saneamento, transporte e preparação, remediação e prevenção de riscos e danos decorrentes de eventos climáticos extremos, consolidadas pelo Plano Nacional de Adaptação – PNA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). Em que pese a Política Nacional de Mudanças do Clima – PNMC aprovada pela Lei Federal nº 12.187/2009 (BRASIL, 2009) estimular a edição de políticas e planos climáticos pelos Municípios, o número de cidades brasileiras a terem editado políticas e planos climáticos próprios é ainda bastante reduzido. Segundo dados da Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2017), menos de 5% dos Municípios possuem leis ou instrumentos atinentes às mudanças do clima. Não obstante, segundo os dados colacionados pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC (2016), os riscos socioambientais nas áreas urbanas tendem a aumentar, sobretudo em decorrência dos eventos climáticos extremos: chuvas extremas, enchentes, enxurradas, deslizamentos, ondas de calor, secas e elevação do nível do mar, com potencial impacto sobre a vida, o bem-estar e a saúde de milhões de brasileiros. É preciso, portanto, que as cidades brasileiras invistam rapidamente na elaboração de políticas, planos e projetos de mitigação, adaptação e resiliência
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
229
climática em âmbito local para terem condições mínimas de enfrentar os graves desafios decorrentes do aquecimento global. OPÇÕES DE POLÍTICA PROPOSTAS A Declaração “O Futuro que queremos” (NAÇÕES UNIDAS, 2012) e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (NAÇÕES UNIDAS, 2015), por meio dos ODS 11 – cidades e comunidades sustentáveis – e 13 – ação contra a mudança global do clima –, reconhecem expressamente que o sucesso no enfrentamento da crise climática depende fortemente do engajamento das cidades. O Relatório “Aquecimento Global de 1.5º C”, publicado pelo IPCC (2018), ressaltou o relevante papel a ser desempenhado pelas cidades em mitigação, adaptação e resiliência, apontando, entre outras medidas, que o investimento em infraestrutura física e social nas cidades é uma condição-chave para o aumento da resiliência e capacidade de adaptação das sociedades. A Conferência Habitat III, realizada no ano de 2016 na cidade de Quito, Equador, aprovou uma agenda global de desenvolvimento urbano sustentável alinhada aos ODS e ao Acordo de Paris. Essa Nova Agenda Urbana – NAU (NAÇÕES UNIDAS, 2016) baseia-se em uma visão de cidade que seja capaz de promover a mitigação e a adaptação às mudanças globais do clima, reduzindo vulnerabilidades e construindo a resiliência urbana. Nesse sentido, o item 66 da NAU considera como “inteligente” a cidade que utiliza a digitalização, energia e tecnologias limpas para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, proporcionando alternativas para escolhas mais amigáveis ao ambiente, capazes de impulsionar o crescimento econômico sustentável e a melhoria na prestação do serviços urbanos. Sob esse prisma, é possível afirmar que as mudanças climáticas oferecem às cidades inteligentes uma série de oportunidades para a inovação e o uso de novas tecnologias em mitigação, adaptação e resiliência em prol da sustentabilidade. Contudo, o inventário local de emissões – diagnóstico inicial fundante de qualquer política climática – auxilia a identificar quais são essas oportunidades. De acordo com a Metodologia GPC, fixada pelo Protocolo Global para Inventário de Gases com Efeito Estufa em Escala Comunitária (WRI et al., 2014) , os inventários locais de emissões de gases com efeito estufa devem ser elaborados tendo por base as emissões de GEEs produzidas por 4 setores econômicos: transportes, energia estacionária (ou seja, a energia despendida em edifícios em geral), resíduos e agropecuária/alteração do uso do solo. Tomando, assim, a origem das emissões locais de GEEs como uma referência inicial, é possível estruturar ações climáticas em âmbito local não só para mitigação das emissões, mas também para adaptação e promoção de
230
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
resiliência em cada um dos 4 setores econômicos produtores de emissões. É evidente que as ações climáticas podem e devem ser extrapoladas para outros setores, de modo a alcançar transversalmente as mais diversas políticas públicas locais. Entretanto, tomar como ponto de partida os setores abrangidos pelo inventário local de emissões permite estruturar as ações com base em dados fornecidos por um diagnóstico técnico preciso, incrementando as suas chances de sucesso. No setor de transportes, por exemplo, considerando a significativa contribuição dos veículos automotores para emissões de GEEs e para a poluição atmosférica em razão do consumo de combustíveis fósseis (ROZANTE et al., 2017), é possível identificar oportunidades não só para priorizar o transporte coletivo, inclusive com a adoção de matrizes energéticas mais limpas, como também para prestigiar o uso de bicicletas e o deslocamento a pé, com melhorias para a saúde da população (SILVA, 2013). Sob o prisma do planejamento urbano afeto à mobilidade, surgem também oportunidades para o abandono do modelo rodoviarista de estruturação das cidades brasileiras, com a adoção de modelos de ordenação do uso do solo urbano pautados pelo princípio da cidade compacta, densa e policêntrica, em que as pessoas possam acessar o trabalho, serviços e utilidades urbanas com deslocamentos menores a partir de suas residências (BRAGA, 2012). No setor de energia estacionária, é possível vislumbrar oportunidades para estimular a incorporação de novas tecnologias na construção civil que promovam o consumo moderado de energia e a utilização de fontes de energia mais sustentáveis, inclusive pela produção de edificações energético-positivas, ou seja, capazes de produzir a energia necessária para a sua utilização, vendendo o excedente para a rede, por meio das chamadas “smart grids” (CALVILLO et al., 2016). Ressalte-se, nesse sentido, a diretriz posta pelo artigo 2º, inciso XXVII, do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), que visa estimular a utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e economia de recursos naturais. No setor de resíduos, pertinente ao saneamento básico, surgem oportunidades para promover a utilização do recurso “água” com maior eficiência, reduzindo desperdícios e fontes de poluição, inclusive com a aplicação da Internet das Coisas – IoT no monitoramento e controle das redes de distribuição domiciliar de água potável e coleta de esgoto, contribuindo assim para a prevenção e enfrentamento de crises hídricas, tal como a experimentada pelo estado de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016 (AMBRIZZI; COELHO, 2018). Há também oportunidades para o aprimoramento dos serviços de varrição pública e drenagem urbana, essenciais para redução da poluição das águas
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
231
nas bacias urbanas, prevenção de enchentes e inundações e controle da impermeabilização do solo urbano (TUCCI, 2012). Por fim, quanto ao manejo de resíduos sólidos, surgem oportunidades para a gestão racional dos padrões de produção de consumo, com a radical redução do lixo produzido e reciclagem de materiais, resultando não só no controle da poluição das águas e do solo, como também no aproveitamento dos rejeitos para redução de emissões mediante a produção de energia por meio do biogás (GOUVEIA, 2012). Para pleno aproveitamento das oportunidades que se colocam no setor de saneamento, é preciso que as cidades brasileiras engajem-se na implementação da gestão integrada dos recursos hídricos e do saneamento básico no nível apropriado, buscando soluções consorciadas que aprimorem a prestação dos serviços e promovam a integração entre o planejamento urbano e a gestão integrada das bacias urbanas (CARNEIRo; PAIVA BRITTO, 2009). Finalmente, no que diz respeito ao uso do solo, surgem oportunidades para aumentar as áreas verdes urbanas segundo os parâmetros indicados pela Organização Mundial da Saúde – OMS entre 12m2 e 36m2 de área verde por habitante (WHO, 2012). Expandir a arborização urbana em geral, nos lotes individuais, nas vias e logradouros públicos em geral, traz como benefícios a proteção da biodiversidade e da qualidade do ar no meio urbano, importantes serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas verdes (LOBODA; DE ANGELIS, 2005). Ainda, as áreas verdes contribuem para a diminuição das ilhas de calor urbanas e, consequentemente, dos eventos climáticos extremos a elas associados, como tempestades e inundações bruscas (BARROS LOMBARDO, 2016). Mais ainda, há a oportunidade para que as cidades busquem investir em infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, mais sustentável e frequentemente menos dispendiosa do que a infraestrutura cinza (FRANCO et al., 2013). É possível, por exemplo, substituir a canalização de córregos e a abertura de avenidas de fundo de vale, tão comuns às cidades brasileiras, por parques lineares ao longo dos corpos d’água, os quais não só operam como espaços de lazer e contemplação, como também preservam a biodiversidade na cidade, protegem o microclima urbano e previnem enchentes e inundações (HERZOG; ROSA, 2010). CONCLUSÃO Diante dos urgentes desafios apresentados pelas mudanças climáticas, as cidades brasileiras detêm a oportunidade ímpar de redesenhar suas políticas públicas de maneira inteligente e inovadora, sobretudo nos setores de mobilidade, saneamento, uso e ocupação do solo e edificações. Devem, entretanto, agir rapidamente através da estruturação de um plano climático local, de caráter transversal às demais políticas públicas, devidamente lastreado nos achados
232
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
do inventário local de emissões, abrangendo ações de mitigação, adaptação e resiliência climáticas voltadas, sobretudo, à promoção da qualidade de vida dos seus habitantes, considerando as presentes e as futuras gerações. REFERÊNCIAS AMBRIZZI, T.; COELHO, C. A crise hídrica e a seca de 2014 e 2015 em São Paulo: Contribuições do clima e das atividades humanas. in: Livro branco da água. A crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo em 20132015: Origens, impactos e soluções / Coordenadores Marcos Buckeridge e Wagner Costa Ribeiro São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2018. p. 22 a 36. BARROS, H. R.; LOMBARDO, M. A. (2016). A ilha de calor urbana e o uso e cobertura do solo no município de São Paulo-SP. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), 20(1), 160-177. BRASIL. 2001. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 28/04/2020. BRASIL. 2009. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/ Lei/L12187.htm. Acesso em: 28/04/2020. BRAGA, R. (2012). Mudanças climáticas e planejamento urbano: uma análise do Estatuto da Cidade. VI Encontro Nacional da Anppas. Belém, 1-15. CALVILLO, C. F.; SÁNCHEZ-MIRALLES, A.; VILLAR, J. (2016). Energy management and planning in smart cities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 273-287. CARNEIRO, P. R. F.; DE PAIVA BRITTO, A. L. (2009). Gestão metropolitana e gerenciamento integrado dos recursos hídricos. Cadernos Metrópole, 11(22). FARIAS, André Rodrigo et al. 2017. Comunicado Técnico. Identificação, mapeamento e quantificação das áreas urbanas do Brasil. Brasília: Embrapa. FRANCO, M.; OSSE, V. C.; MINKS, V. 2013. Infraestrutura verde para as mudanças climáticas no C40. Revista LABVERDE, (6), 220-235. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2179-2275.v0i6p220-235. GOUVEIA, N. (2012). Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. Ciência & saúde coletiva, 17, 1503-1510. HERZOG, C. P.; ROSA, L. Z. (2010). Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana. Revista Labverde, (1), 92-115. IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 2017. Perfil dos Municípios Brasileiros 2017. Rio de Janeiro: IBGE. IPCC. 2018. Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. In Press. LOBODA, C. R.; DE ANGELIS, B. L. D. (2005). Áreas verdes públicas urbanas: conceitos, usos e funções. Ambiência, 1(1), 125-139. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES – MCTIC. 2017. Estimativas Anais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil. 4ª ed. 2017. Brasília: MCTIC. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2016. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Sumário Executivo. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2017. Sumário Executivo. Documento-base para subsidiar os diálogos estruturados sobre a elaboração de uma estratégia de implementação e financiamento da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil ao Acordo de Paris. Brasília: MMA.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
233
PBMC. 2016. Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às mudanças climáticas: Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas [Marengo, J.A., Scarano, F.R. (Eds.)]. PBMC, COPPE – UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. 184 p. ISBN: 978-85-285-0345-6. ROZANTE, José R. et al. 2017. Variations of Carbon Monoxide Concentrations in the Megacity of São Paulo from 2000 to 2015 in Different Time Scales. Atmosphere 8, no. 5: 81. NAÇÕES UNIDAS. 2012. El Futuro que queremos. Documento final de la Conferencia das las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. NAÇÕES UNIDAS. 2015. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. NAÇÕES UNIDAS. 2016. New Urban Agenda. Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016. SILVA, Fernando Nunes da. (2013). Mobilidade urbana: os desafios do futuro. Cadernos Metrópole, 15(30), 377388. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2236-9996.2013-3001. TUCCI, C. E. (2012). Gestão da drenagem urbana. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). UN HABITAT. 2017. Sustainable Urbanization in the Paris Agreement. Comparative Review of Nationally Determined Contributions for Urban Content. Nairobi, Kenya: UN Habitat. WHO. 2012. Health Indicators of sustainable cities in the Context of the Rio+20 UN Conference on Sustainable Development Initial findings from a WHO Expert Consultation: 17-18 May 2012. WHO/HSE/PHE/7.6.2012f. WRI, C40, ICLEI. 2014. Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria. Estándar de contabilidad y de reporte para las ciudades. ISBN: 978-1-56973-909-9.
Capítulo 19 Logística Reversa de Eletroeletrônicos: Uma (Re)Solução Urgente para Cidades Sustentáveis no Brasil Michelle Barrêto Venturini
Nos textos que anunciam colóquios, nos resumos dos estudos oficiais ou nos artigos da imprensa sobre o desenvolvimento da multimídia, fala-se muitas vezes no “impacto” das novas tecnologias da informação sobre a sociedade ou a cultura. A tecnologia seria algo comparável a um projétil (pedra, obus, míssil?) e a cultura ou a sociedade a um alvo vivo... Esta metáfora bélica é criticável em vários sentidos. A questão não é tanto avaliar a pertinência estilística de uma figura de retórica, mas sim esclarecer o esquema de leitura dos fenômenos – a meu ver, inadequado – que a metáfora do impacto nos revela. (LÉVY, 1999, p. 19)
INTRODUÇÃO No ano de 2010, o Brasil oficializou uma política nacional de manejo de resíduos sólidos, entre eles, o maior do século XXI, os eletrônicos. Só em 2017, a população brasileira descartou 17 quilotoneladas de aparelhos celulares, segundo dados do Global e-Waste Monitor. Dessas, 29 toneladas foram apenas de aparelhos celulares. A primeira Política Nacional de Resíduos Sólidos foi lançada pelo Governo Federal em 2010. Novamente em outubro de 2019, houve uma outra assinatura da legislação sem, contudo, haver implementações dessas políticas em práticas de manejo de resíduos, campanhas informativas à população ou penalidades a infratores. Mais uma vez, em fevereiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro volta a assinar a PNRS. O Ministério do Meio Ambiente implementa uma agenda de ações, propõe práticas à iniciativa pública e privada e traça metas de sustentabilidade. Nenhuma divulgação maciça dessa agenda, porém, foi realizada. É lugar-comum afirmar que tecnologia é fundamental à humanidade. Também é um clichê dizer que algo precisa ser feito quanto ao descarte dos equipamentos que são substituídos pela inevitável obsolescência (programada). Contudo, o que falta é responder a uma pergunta: se já existem leis há uma
236
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
década, se há órgãos que se responsabilizam por coletar esses resíduos – e mais, se há empresas que, independentemente do interesse financeiro, são parceiras dessa iniciativa e praticam a logística reversa –, por que ainda há tanto resíduo indo aos aterros? Por que a consciência ambiental ainda é tão escassa no país? Contudo, ações práticas precisam ser realizadas. Empresas já assinaram acordos com o governo. Parcerias já foram feitas. O Ministério do Meio Ambiente já deu palestras em órgãos privados e firmou mais parcerias que favorecem os interesses econômicos de grandes empresas e geram sustentabilidade. Entretanto, a população permanece sem saber o que fazer com seu lixo/ não lixo. A Cidade Inteligente, Humana e Sustentável deve envolver a sociedade nos seus processos de gestão, ou apenas terá assinaturas em papéis. A população não é a responsável direta – ou pelo menos não é a única – pelo grande acúmulo de resíduos sólidos indevidamente descartados no meio ambiente, mas ela pode solucionar o problema. A população brasileira é numerosa e, unida ao poder público, pode transformar o cenário dos aterros sanitários do país. Ela precisa de mais do que informação – ela precisa de uma mudança de cultura. O poder público é o melhor agente dessa mudança, pois tem um recurso crucial em mão: a possibilidade de implementar ações educativas desde a escola. JUSTIFICATIVA A escola e a educação ambiental A escola é o primeiro lugar de interação social da pessoa. É onde ela aprende a compartilhar, resolver conflitos, relacionar-se e aprender da vida e do mundo. O que acontece na escola reflete em casa – e vice-versa. As disciplinas escolares já têm mudado com os anos. Temas transversais surgiram como uma necessidade para formar uma pessoa mais humana e integral, para além do paradigma curricular das disciplinas que apenas servirão aos testes de seleção para a Universidade. Os alunos estudam ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Em alguns anos, estudam também educação no trânsito, por exemplo. Necessidades surgem conforme os tempos avançam. Apesar de o meio ambiente ser estudado, ainda não há um conteúdo consistente com o tema da sustentabilidade. A matéria ainda se atém aos tópicos de “chuva ácida”, “ciclos de fotossíntese”, “manejo e conservação ambiental”, sem profundamente falar da urgência que é o manejo dos resíduos sólidos. Educação ambiental não é obrigatória, embora conste como tema transversal até a Educação Superior, conforme a Lei no 9.795/ 99. É urgente tratar desde a escola sobre o consumo. Especialmente se atrelada a aulas de educação financeira, aulas de educação ambiental propiciarão
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
237
aos alunos a oportunidade de cultivar uma mente menos consumista e competitiva quanto ao “ter”, e mais integral quanto ao “ser”. Forma-se uma cidade inteligente e criativa quando seus agentes entendem melhor o que fazem com seus recursos quando pensam coletivamente a economia. A cidade inteligente, criativa e humana pratica uma economia circular, pensa na logística reversa de seus produtos, pensa em todo o ciclo de um bem de consumo. Começar pela escola é tratar o assunto da sustentabilidade desde sua semente. É crucial implementar uma disciplina de sustentabilidade na Educação Básica. Seja na grade fixa ou como tema transversal, professores e alunos devem ser preparados como agentes desse mérito. Este ano de 2020 é o ano de reformas na educação e nos investimentos que serão destinados a ela. Este é o ano em que a gestão pública pode intervir em todos os níveis para um currículo mais integral na Educação Básica. Seja gestor municipal, estadual ou federal, todos têm a oportunidade de gerar soluções e ações práticas que levem a informação e suscitem na população o desejo de participar também. O Brasil visto de fora Segundo o PISA (Programa Internacional de Avaliação Estudantil), o Brasil está em penúltimo lugar em qualidade de educação, comparado a outros países no ranking feito em 2018. Segundo o teste, os estudantes brasileiros têm dificuldade de ler e interpretar textos e cenários. Os alunos também apresentam problemas em solucionar questões lógicas. É evidente que diversos fatores foram levados em consideração e “atenuaram” a visão dos avaliadores quanto aos resultados brasileiros: a situação de vida dos estudantes, a classe social, as condições da escola e outras questões como bullying e violência doméstica e urbana. O PISA é realizado a cada três anos. Para 2021, a novidade do teste de matemática será creative thinking, ou seja, pensamento criativo. Trata-se de uma questão urgente trabalhar nas escolas temas relevantes além das disciplinas básicas, do português e da matemática. Inserir o tema da sustentabilidade, e pensar coletivamente em soluções para o desperdício, o consumismo, o descarte de resíduos sólidos, entre outras soluções além da reciclagem, darão aos alunos as ferramentas de pensamento coletivo, trabalho conjunto, pesquisa e produção de conhecimento. O gestor público deve pensar como a população se formará em longo prazo. Ainda não se sabe como será o PISA de 2024, mas, se as mudanças certas forem feitas desde já, a educação brasileira poderá avançar muitas posições no ranking internacional. É sabido que, quanto melhor o país é visto de fora, melhores são as suas relações internacionais. Contudo, ainda não é uma questão de melhorar o Brasil para os outros. Trata-se de melhorar o país para
238
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
os brasileiros e para formar cidadãos agentes e conscientes de seu propósito na máquina motriz do país. A cidade inteligente, criativa, humana e sustentável começa na escola, segue para as universidades e forma as empresas que terão interesses maiores que financeiros. A gestão pública e os cidadãos podem se beneficiar de um sistema ganha-ganha se o investimento em informação de sustentabilidade, economia circular e logística reversa começar na escola. PROPOSTA Informar ou educar – publicidade, mídia e custos De acordo com o Portal da Transparência, entre os anos de 2014 e 2015, o Ministério das Comunicações gastou mais de 20 milhões de reais com publicidade, a Presidência da República gastou mais de 600 milhões entre 2017 e 2018, e o Ministério da Educação gastou mais de 150 milhões em 2008. O Comando do Exército, apesar de não gastar grandes somas, gasta frequentemente em publicidade e propaganda ao longo dos governos da última década até a atualidade. Apesar de o poder público investir muito em comunicação e propaganda, a população segue desinformada sobre diversas matérias importantes da governança de suas cidades. Por exemplo, ainda se perdem vacinas contra doenças como gripe, HPV, hepatite e febre amarela, porque os pacientes não têm a cultura de frequentar os postos de saúde. Ainda se descartam pilhas e medicamentos no lixo comum, porque diversas cidades não têm coleta seletiva, e vários pontos de coleta desses artigos não são devidamente divulgados. Jogam-se roupas no lixo comum, porque não se sabe como e onde descartá-las adequadamente. Eletrodomésticos e móveis são atirados em rios e outras fontes de água, porque não há nas prefeituras e órgãos públicos um número de telefone para chamar, ou um serviço de coleta desses itens – que poderiam ser consertados e doados a outras famílias. Portanto, a soma investida em publicidade não tem atingido a população de modo assertivo, ou não tem tratado dos assuntos que a fariam agir. Está nas mãos do gestor público – atual ou futuro – realizar a mudança de direção. Diversos recursos estão à disposição para formar cidades mais inteligentes. As escolas são campos cheios de mentes abertas ao conhecimento, à ação e a mudanças. O gestor que investe nas escolas investe nas famílias e no conhecimento coletivo. A ação que começa nas salas de aula percorre as comunidades e envolve as cidades e municípios. As escolas não têm interesses próprios e financeiros. Escolas não escondem segundas intenções. A sala de aula é a maior propagadora do sentimento
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
239
coletivo. A jovem sueca Greta Thunberg começou seu movimento climático, e se tornou a pessoa do ano da Revista Time de 2019, com uma greve escolar que já ultrapassou a septuagésima semana até março de 2020. Sua greve é um protesto por mudanças de comportamento para controlar o aquecimento global. Acontece todas as sextas-feiras, primariamente na Suécia, mas percorre o mundo e atinge governantes de inúmeros países. A Política Nacional de Resíduos Sólidos O artigo 3o, parágrafo VI – controle social – discorre sobre o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos”1. O parágrafo XII – logística reversa – versa sobre o “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”2. A PNRS esclarece que é uma responsabilidade de todas as camadas da sociedade e governança cuidar do manejo dos resíduos sólidos, e que deve haver um encargo por parte da iniciativa privada cuidar dos resíduos que produz, como os produz, dos recursos que despende e do impacto que gera ao ecossistema. O artigo 8o, parágrafo VI, visa à “cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos”.3 Especificamente sobre a logística reversa de eletrônicos, há uma regulamentação à parte, o Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 20204. O capítulo XIII, artigos 41 a 46, trata exatamente da obrigação que há de comunicar aos consumidores sobre a importância do descarte correto dos eletrônicos. Os artigos discorrem as formas de comunicação impressas e virtuais, verbais e não verbais para informar e educar a população. São obrigações passíveis de pena se não cumpridas.5 A tecnologia é uma propulsora de informação, comunicação e conhecimento. O consumidor compra tecnologia e a atualiza frequentemente. É fun1
3 4 5 2
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm.
240
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
damental que ele saiba onde descartar os gadgets que substitui. É fundamental que o consumidor tenha clareza e facilidade de descarte de pilhas, cabos, baterias, câmeras, celulares, monitores, laptops, televisores. Além desses eletrônicos, há os eletrodomésticos. Grandes eletrodomésticos de linha branca acabam em lixões quando substituídos. Se o consumidor tiver informação sobre onde entregar uma geladeira, um fogão, ou um aparelho de micro-ondas, haverá uma grande possibilidade de esses itens não mais poluírem os aterros. Um dos objetivos da lei é que o consumidor, o poder público e a iniciativa privada tenham a capacidade de encontrar as soluções para realizar tais ações. O anexo I do Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, traz a lista de diversos itens chamados “resíduos eletroeletrônicos” que são objetivos da logística reversa e, a seguir, no anexo II, o objetivo de coleta para cada estado além de uma lista de municípios onde a logística reversa já acontece. Esses dados ainda são pouco divulgados à população. É muito sabido sobre o impacto do plástico no mar e sobre a vida marinha. Também se divulgam dados sobre as queimadas e o desmatamento na Amazônia. É uma realidade a transformação de florestas em pastos para expansão pecuária. Fazem-se documentários sobre a produção desenfreada da moda rápida, e do consumo por impulso, sobre a moda precisar mudar seu conceito e parar de gerar desperdício. Contudo, o solo tem sido prejudicado pela poluição por mercúrio e outros metais pesados, resultado do descarte incorreto de pilhas, baterias, lâmpadas e aparelhos celulares. Embalagens de agrotóxicos não são devolvidas aos fabricantes, e substâncias têm penetrado o solo, contaminando lençóis freáticos. A indústria da fast fashion tem tentado se redimir com a humanidade criando produtos a partir de tecidos reciclados. Diversas marcas conhecidas como a C&A, Renner e Zara divulgam seus produtos com etiqueta “verde”. No caso da Zara, peças de roupa sem uso podem ser deixadas em algumas lojas da rede. O projeto ainda está em fase inicial, mas a empresa distribui as peças de roupa entre ONGs para doação, restauração ou reciclagem de tecidos. A loja Renner recolhe peças de roupa e frascos de perfumaria e cosméticos e dá o destino apropriado a cada categoria. A tecnologia também precisa repensar seus conceitos. Os lançamentos anuais de gadgets, que geralmente vêm em múltiplas cores, modelos e tamanhos, podem ser reduzidos. A obsolescência pode ser reprogramada, ainda que essa ideia pareça sugerir um refreamento do progresso. Ao contrário, no século em que a máquina é feita para aprender com a interação humana, não seria incoerente sugerir que durasse mais anos com a pessoa. Com mais tempo de interação, um aparelho aprende mais, armazena mais dados e os transfere para o próximo dispositivo. Ao passo que o fabricante “deixa” de lucrar com o lançamento constante de aparelhos, ele investe em IoT e o usuário paga por serviços. A geração X, por
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
241
exemplo, já está inserida em um contexto “uberizado”, em que o conceito de serviço x bens é usual. O consumidor dessa geração paga mais por serviços on-line e aplicativos que por aquisições. Se o fabricante não lança um aparelho, mas lança uma nova funcionalidade para o dispositivo, o usuário a compra, desde que encontre benefício nela. Em nome da emissão zero de carbono, promoção da saúde e economia de combustíveis fósseis, a empresa Yellow inaugurou as bicicletas compartilhadas e patinetes elétricos em várias capitais. Devido à pouca instrução das pessoas sobre como usá-los devidamente, somada à pobre educação no trânsito generalizada no país – e ainda ocorrências de vandalismo e furtos –, a empresa precisou recolhê-los e parar a operação. No início de 2020, centenas de bicicletas danificadas e patinetes formavam um grande cemitério em terrenos vazios nas cidades. A ONG Terracycle6 atua em diversos países promovendo parcerias com empresas para recolher resíduos sólidos e gerar renda para escolas públicas. Está à disposição para coletar e destinar adequadamente novos tipos de resíduos. Até março de 2020, coletaram quase 8 bilhões de resíduos sólidos. No Brasil, a Avon® recebe cosméticos, frascos vazios, vidros e embalagens de papel; a Faber Castell® recolhe canetas, lápis e outros materiais escolares, a empresa Scotch-Brite® recolhe esponjas de louça e banho; as empresas de café Pilão e Melitta® recolhem cápsulas de café. Pelo envio dos resíduos, a sociedade recebe de volta doações em dinheiro para escolas públicas. Desde o ano de 2015, o livro A mágica da arrumação, da escritora japonesa Marie Kondo, tem tentado conscientizar as pessoas sobre quanto consomem e acumulam em suas casas. Ao mesmo tempo, surgiu uma tendência de vida chamada “minimalismo”. As pessoas passaram a querer menos coisas em suas casas e a se livrar da “tralha” – tudo o que não lhes traz alegria e ocupa espaço em suas casas e mentes. Como resultado, em todo o mundo muitos itens foram descartados – doados ou vendidos – e inúmeros foram para o lixo em nome de uma consciência de menos consumo e mais preservação do espaço (individual) de convivência. Eletroeletrônicos são abordados no livro como categoria aleatória, chamada “komono”7– que não tem relevância ou valor sentimental. O mundo está sobrecarregado de bens de consumo e não sabe dar-lhes destino quando precisa. Gestão pública e seu papel As ações de controle e manejo de resíduos sólidos são relativamente tímidas e têm parceria de um número limitado de pessoas jurídicas e físicas 6 7
Disponível em: https://www.terracycle.com/pt-BR/brigades. KONDO, 2015, p. 49.
242
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
no Brasil. Isso se dá devido à falta de informação e à cultura do desperdício, somadas ao incentivo ao consumo e aos numerosos municípios que ainda não têm um programa de coleta seletiva no país. Cabe ao poder público – e no ano de 2020 é ainda mais iminente – promover uma solução efetiva que traga resultados perenes e contribua para a mudança da cultura. Inicialmente, é fundamental implementar um projeto de educação de sustentabilidade e economia circular nas escolas de Educação Básica. Segundo, trata-se de difundir entre as pessoas física e jurídica a legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, suas características, os tipos de resíduos, direitos, deveres e as penalidades. Prefeitos e vereadores devem tratar como causa urgente a implementação de coleta seletiva nos municípios onde não há, além de formalizar as associações de catadores nas metrópoles, aliados à iniciativa privada. Por último, caberia à esfera Federal apoiar, promulgar e aprovar as iniciativas que contribuam para tornar as cidades mais inteligentes, como a continuação das pesquisas sobre novos materiais para baterias de eletroeletrônicos; impressões em 3D à base de materiais reciclados; estudo de revisão de tempo de obsolescência dos dispositivos eletrônicos e administração dos grandes aterros sanitários do país. CONCLUSÃO É de alta relevância que cada agente da sociedade se torne ciente de seu papel e seu espaço na governança da cidade. Uma cidade é inteligente quando é eficiente, serve aos cidadãos e tem suprimento de energia e água. A cidade inteligente tem suas camadas estruturadas, sua sujeira tratada e seus sistemas interligados. A cidade sustentável tem energia limpa e renovável, e preocupa-se com a pegada de carbono que deixa no planeta. Separa e direciona seus resíduos, sabe distinguir o lixo do não lixo e sabe que não existe jogar “fora”. Tem sua água tratada, preserva suas nascentes e busca meios de não poluir lagos, rios e mares. A cidade inteligente, sustentável e humana usa as diversas formas de tecnologia para coletar dados, armazená-los, distribuí-los ou programá-los. Usa dados para promover informação, conhecimento, transparência, participação, tomada de decisão, conexão, agilidade, serviços, saúde, segurança de pessoa física e jurídica. A cidade humana promove cultura, engajamento, movimento e vida. A cidade que não é humana não é inteligente, pois a máquina aprende com o humano. A tecnologia, como dizia o Lévy, não é o vilão. O eletrônico não é quem rouba o tempo, a energia e a conexão do humano. Foi o próprio humano ensimesmado em seus desejos de consumo. Essa mesma tecnologia pode libertá-lo. Basta que outros humanos inteligentes com poder de influência a usem para conexão e informação. O gestor público tem esse poder e, a partir de agora, o dever.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
243
REFERÊNCIAS About #FridaysForFuture. Disponível em: https://www.fridaysforfuture.org/about. Acesso em: 01 de março de 2020. Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. The Global e-Waste Monitor – 2017: Quantities, Flows, and Resources. Disponível em: http://ewastemonitor.info. Acesso em: 30 de janeiro de 2020. Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann, P.: The Global e-waste Monitor – 2017. Bonn, Genebra, Viena: United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), 2017. 110 p. Behind the Scenes of TIME’s 2019 Person of the Year Issue. Disponível em: https://time.com/5746486/ person-of-the-year-2019-editors-letter/. Acesso em: 01 de março de 2020. Brazil: key findings. In: Country Note - PISA 2018 Results. Disponível em: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_BRA.pdf. Acesso em: 01 de fevereiro de 2020. Cemitério de bikes: centenas de bicicletas empilhadas incomodam vizinhos em Curitiba. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/cemiterio-de-bikes-centenas-de-bicicletas-empilhadas-incomodam-vizinhos-em-curitiba/. Acesso em: 08 de janeiro de 2020. e-Waste in Latin America: Statistical analysis and policy recommendations. Disponível em: https://www.gsma. com/latinamerica/resources/ewaste2015/. Acesso em: 17 de fevereiro de 2020. Join Life. Disponível em: https://www.zara.com/br/pt/sustainability-collection-program-l1452.html. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020. KONDO, Marie. A mágica da arrumação [livro eletrônico]. Tradução de Márcia Oliveira. Rio de Janeiro: Sextante, 2015. 91 p. Lévy, P. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999. 260 p. MINISTÉRIO das Comunicações. Despesas. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/busca?ter mo=propaganda&comprasContratacoes=true&transferencias=true&convenios=true&execucao=true&cartaoPaga mento=true. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020. MINISTÉRIO da Educação. Despesas. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/52943 885?ordenarPor=descricao&direcao=asc. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020. PISA 2021 Mathematics Framework. Disponível em: https://pisa2021-maths.oecd.org. Acesso em: 01 de fevereiro de 2020. Por que Cataki? Disponível em: https://www.cataki.org/pt/. Acesso em: 17 de fevereiro de 2020. PRESIDÊNCIA da República. Despesas. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/50 249127?ordenarPor=descricao&direcao=asc>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020. Programa Nacional de Reciclagem. Disponível em: https://www.terracycle.com/pt-BR/brigades. Acesso em: 01 de fevereiro de 2020.
Capítulo 20 Políticas Públicas em Cidades Inteligentes: Para uma Cidade Brasileira Sustentável e Inclusiva Alexandra Fuchs de Araújo
I. INTRODUÇÃO O tema das cidades inteligentes e do uso das tecnologias de informação hoje ocupa a mídia, traduzindo a utopia de se imaginar pessoas dos mais diversos pontos de uma mesma cidade interagindo entre si e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de todos que habitam um mesmo espaço urbano. A ideia traz em si a premissa da possibilidade do uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e comunicação com planejamento e gestão pública urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Na prática, a questão não é tão simples. Numa cidade sem políticas urbanas estruturadas1, como é o padrão das cidades brasileiras, divididas por profundas desigualdades na distribuição de recursos, que se refletem no desenvolvimento das infraestruturas urbanas, a utilização de tecnologias de informação para a disponibilização de políticas públicas urbanas requer um cuidado extraordinário, para que essas tecnologias cumpram seu objetivo de reduzir das desigualdades, e não aprofundá-las. Esse cuidado é necessário, pois o gestor público, ao pensar no conceito de cidades inteligentes, não pode perder de vista que na aferição do nível de inteligência de uma cidade o uso de tecnologia em si não é um valor. Ele só estará 1
Maria Paula Dallari Bucci conceitua as políticas públicas como “a ação governamental coordenada e em escala ampla, atuando sobre problemas complexos, a serviço de uma estratégia determinada, tudo isso conformado por regras e processos jurídicos. Seu objetivo é colocar em conexão os aspectos políticos e jurídicos que provocam a ação governamental; em outras palavras, de que formas, por meio ora de uma aproximação realista e analítica, ora idealista e prescritiva, se impulsionam as transformações jurídico -institucionais, isto é visão prospectiva” BUCCI, M. P. D. “Método e aplicações da abordagem Direito e Políticas Públicas”. In: Dossiê Direito e Políticas Públicas. No prelo, 2018, p. 16.
246
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
de fato agregando as políticas públicas urbanas caso seja capaz de coordenar as dez dimensões que indicam o nível de inteligência de uma cidade, quais sejam, governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, o meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e economia. Um dos principais desafios do direito urbanístico, nos próximos anos, está em justamente garantir o diálogo entre novas tecnologias, políticas públicas urbanas e o próprio direito, nas cidades inteligentes. O gestor que procura impedir o desenvolvimento dos aplicativos, com a aprovação de uma regulamentação restritiva, empurra a cidade para a informalidade, pois a força do desenvolvimento das novas tecnologias é um fenômeno mundial incontrolável. Entretanto, abraçar as novas tecnologias sem cuidado com as políticas públicas urbanas desejadas pela cidade, expressas no seu plano diretor e condizentes com as necessidades de seus habitantes e com a infraestrutura urbana também pode conduzir ao caos urbano. O direito deve conter os instrumentos adequados para permitir que as novas necessidades urbanas conversem com as novas tecnologias da informação, atuando como um guia para as políticas públicas a serem desenvolvidas, e não como uma armadura medieval inflexível. Querer frear a evolução tecnológica é querer parar no tempo: as transformações ocorridas não têm volta, e resistir pode significar reduzir as possibilidades de desenvolvimento e de evolução de políticas públicas já estruturadas. Contudo, como caminhar nessa direção? O presente artigo tem como finalidade trazer alternativas viáveis para que esse diálogo seja possível, na velocidade necessária, de modo que os instrumentos jurídicos cumpram o seu papel num mundo cada vez mais dinâmico. II – Justificativa para ação no problema: as TICs na gestão urbana As novas tecnologias da informação, vinculadas ao conceito de cidade inteligente, muitas vezes são eficientes ao cumprir o seu papel no mercado: aquecem um determinado ramo da economia, provocam um furor nos mercados financeiros locais e mundiais, transformam a cidade. Nessa metamorfose urbana, há alguns ganhos e muitas perdas. O uber, um dos aplicativos mais conhecidos no mundo, revoluciona a mobilidade urbana nos centros urbanos ao chegar ao mercado de qualquer cidade. Do ponto de vista jurídico, é uma modalidade de transporte privado individual, porém afeta o transporte público nas cidades em que se estabeleceu, anuncia a morte do sistema de concessões de licença para o serviço de táxi, num movimento irreversível e desestruturador para políticas públicas consolidadas, decorrente de um sistema de interesses políticos estabelecidos há décadas nos centros urbanos. O airbnb, modelo de negócio que alçou a empresa ao status de “unicórnio”, com valor de mercado superior a US$1 bilhão, permite que, através de uma plataforma digital, quartos e unidades inteiras sejam disponibilizados no
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
247
mercado mundial. Hoje, oferece mais de 6 milhões de quartos, casas, apartamentos e espaços inusitados de hospedagem – como castelos e iglus – em mais de 81 mil cidades ao redor do mundo. Como consequência, o uso de imóveis foi afetado nas grandes cidades, gerando novas demandas de regulamentação do direito de propriedade e da moradia. Na Europa, vagas que eram destinadas à locação residencial, hoje são voltadas para alugueis de curta temporada e à demanda por serviços públicos. A alteração dos usos urbanos impacta na coleta de lixo, no saneamento, na segurança pública, etc. Desse modo, as disfuncionalidades causadas pelos “best sellers” tecnológicos impedem que possam ser classificados como instrumentos tecnológicos necessariamente eficientes para a gestão urbana, uma vez que, descompromissados com as políticas públicas projetadas para o meio urbano, estão compromissados com a sustentabilidade das cidades. Como consequência, as cidades se tornam cada vez menos sustentáveis, por maiores que sejam os investimentos públicos nessa direção. As cidades brasileiras, em princípio, possuem autonomia para definir sua política urbana2, mas o entrelaçamento de competências constitucionais brasileiras faz com que o exercício dessa competência esteja condicionado ao diálogo com as demais esferas da Federação, sem o que não haverá o consenso necessário para o desenvolvimento da política urbana3. A existência de três esferas na Federação é em si um obstáculo para uma regulamentação que responda de forma rápida às transformações necessárias na esfera jurídica para atender às mudanças de tecnologia. No caso de São Paulo, os conflitos urbanos, decorrentes da diversidade dos atores influentes nas políticas públicas urbanas, são também um intensificador dos obstáculos para se alcançar a sustentabilidade da cidade. Os conflitos se relacionam com a forma como os interesses dos diversos atores urbanos se manifestam na cidade, e podem ser um obstáculo para a regulamentação das tecnologias, de forma a superar impasses negativos no nível local. 2
3
“Da leitura do artigo 21, inciso IX do texto constitucional, que estabelece a competência da União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, dessume-se que, apesar da competência dos Municípios para elaborar o Plano Diretor e promover o adequado aproveitamento do solo, o planejamento municipal deve levar em conta o planejamento nacional, em razão da competência da União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Assim, não pode o Município elaborar um planejamento urbano que afronte o planejamento nacional. É da competência da União para o estabelecimento de planejamento nacional do território (art. 21, IX) e da competência dos Estados para instituir região metropolitana (art. 25, § 3º) que decorre a competência concorrente do Município para legislar sobre direito urbanístico, prevista no artigo 24, inciso I, do texto constitucional”. ARAUJO, Alexandra Fuchs de. Participação democrática na Administração. São Paulo, Quartier Latin, 2019, p. 31. ARAUJO, Alexandra Fuchs de. Op. cit., p. 31.
248
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Da parte do governo, além de políticos e gestores públicos situados nos níveis mais altos das burocracias locais, destacam-se como atores sociais por parte do governo os burocratas de nível de rua, como os agentes municipais, assistentes sociais e agentes comunitários de saúde, envolvidos nas soluções para cada região, policiais civis e militares, oficiais de justiça. Cada um desses grupos, de acordo com seus valores institucionais, pode incentivar ou resistir a uma determinada tecnologia urbana. Esses agentes têm grande impacto na comunidade, pois “recebem e transmitem as expectativas dos usuários sobre os serviços públicos; determinam a elegibilidade dos cidadãos para acessarem os benefícios ou receberem sanções; dominam a forma de tratamento dos cidadãos e medeiam aspectos da relação institucional dos cidadãos com o Estado. Tornam-se, portanto, o locus da ação pública, na medida em que são responsáveis pela mediação das relações cotidianas entre o Estado e os cidadãos”4. São as burocracias de nível de rua que, segundo O’Toole, e assim como as demais burocracias, devem ser vistas como sistemas abertos que respondem a pressões ambientais e externas que, por sua vez, precisam competir com outras formas de pressões internas e externas, e com os valores e procedimentos da própria burocracia5. Dentro do próprio governo, portanto, são várias as discricionariedades envolvidas. Se um aplicativo é desenvolvido pela gestão sem a participação e a aprovação dos burocratas de nível de rua, não irá corresponder às expectativas para a política pública a que se destina. Destacam-se ainda os atores do capital, presentes em todos os níveis da ação governamental e que nunca estão sós6. O governo precisa de recursos para ser um player importante, um parceiro atraente e, para isso, ele não pode reivindicar uma autonomia absoluta, imaginada num modelo estadocêntrico. Por outro lado, no mundo regulado o capital não pode prescindir do Estado. Assim, a cidade irá demandar diversos modelos de parceria, mais ou menos explícitos. Todavia, será um desperdício investir recursos públicos em tecnologias sem considerar a ação e os interesses desses atores sociais, pois sem o seu comprometimento o aplicativo não cumprirá seu objetivo. Como recursos financeiros são essenciais para o Estado implementar políticas públicas urbanas, os atores do capital são outra categoria de atores do urbano imprescindível para essas políticas, pois viabilizam as parcerias necessárias, 4
5
6
LOTTA, G. S. O papel das burocracias no nível da rua na implementação de políticas públicas entre o controle e a discricionariedade. In: FARIA, C. A. (Org.). Implementação de políticas públicas. Teoria e prática. Belo Horizonte: Ed. PUCMinas, 2012, p. 5. LOTTA, G. S. Op. cit., p. 6. STOKER, G. Governance as theory: five propositions. In: International Social Science Journal, v. 50, n° 155, 1998, p. 22.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
249
sendo denominados por Marques de “capitais do urbano”. Estes, para o autor, não se identificam com os capitais no urbano, relacionados ao impasse a que chegou a bibliografia marxista, tanto no que pertine ao papel do Estado quanto ao papel do capital envolvido nas relações de poder das cidades. Para Marques, 7
a importância dos capitais não deriva de elementos sistêmicos (ligados, por exemplo, a processos gerais de acumulação ou a quaisquer funções, se é que essas existem). Sua influência na produção de políticas se deve ao uso de recursos de poder e à adoção de estratégias políticas em conexão com vários atores (e não apenas capitais) cercados pelas instituições que produzem as políticas urbanas8.
No momento atual, os conflitos urbanos gerados pelas disputas entre capitais urbanos e burocracias consolidadas influenciam na forma como as novas tecnologias da informação se instalam nos grandes centros urbanos, e são influenciadas por elas, gerando novos polos de poder e de interesse do capital. Daí a relevância de se identificar os interesses de todos os grupos relevantes numa disputa política urbana, buscando soluções bottom-up9. O jurídico, no momento atual, não possui as ferramentas para impor políticas públicas estatais geradas por um estado que, mesmo dialógico, é incapaz de diagnosticar e incorporar a relevância de novos atores e novas formas de aglutinação de interesses. Nessa linha, na cidade de São Paulo, o uber, ao chegar no espaço urbano, em 2014, trouxe desequilíbrio a um sistema de mobilidade, cujos efeitos ainda não se exauriram, mesmo com a aprovação de um plano diretor urbano, em tese participativo. Na ocasião em que o aplicativo aportou na cidade, o governo municipal resistiu à incorporação da nova atividade às alternativas urbanas de mobilidade. Muitos veículos foram apreendidos, taxistas fizeram manifestações de repúdio, mas a força da tecnologia se impôs, com a redução do papel do Estado e da política na regulação da mobilidade urbana. O crescimento dos aplicativos e sua influência no espaço urbano, dos quais o caso do uber é um exemplo, demonstra que o gestor público ainda 7
8
9
MARQUES, E. C. L. De volta aos capitais para melhor entender as políticas urbanas. In: Novos cadernos CEBRAP. Dossiê Capitais do Urbano. São Paulo, jul. 2016, n° 105, p. 16. MARQUES, E. C. L. Op. cit., p. 16. Como observam Nogueira e Fagundes, “atualmente há certo consenso na literatura sobre avaliação no sentido que os implementadores possuem certo grau de manobra decorrente de delegação de poderes, ou de prerrogativas decorrentes dos aspectos jurídicos e administrativas, o que lhes conferem maior ou menor grau de discricionariedade. Tal permite, a estes atores, escolher entre diversas alternativas ou mesmo não operacionalizar as políticas. Além dos agentes estatais, incorporam-se também como implementadores os profissionais”. NOGUEIRA, V. M.L. e FAGUNDES, H. S. “Implementação de políticas púbicas: uma questão em debate”. In: Seminário nacional de Serviço social, trabalho e política social. Florianópolis, 27 a 29 de outubro de 2015. Disponível em: https://seminarioservicosocial.paginas.ufsc. br/files/2017/05/Eixo_3_199.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020.
250
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
não está preparado para absorver o impacto das novas questões emergentes, especialmente no que diz respeito à velocidade das mudanças. A gestão pública precisa entender como coordenar as vantagens dos novos aplicativos, como implementar dispositivos tecnológicos próprios para auxiliar a gestão, e, principalmente, como inserir dentro do planejamento estratégico de um município as novas tecnologias. III. OPÇÕES PROPOSTAS: O NOVO ESPAÇO DA POLÍTICA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS O que fazer e o que não fazer? A história dos aplicativos urbanos já demonstrou que proibir novos aplicativos por incapacidade de absorção do novo pela gestão não é uma boa solução. A clandestinidade traz um custo urbano e um custo político elevado. A regulamentação rígida também não tem trazido bons resultados. No caso brasileiro, de forma pontual, a proibição e a regulamentação restritivas têm gerado uma intensa judicialização, canalizando esforços e recursos humanos escassos na defesa impossível de uma ordem regulatória já superada, em prejuízo do interesse público. O Município de São Paulo, por exemplo, tentou restringir a utilização de veículos para o uso em aplicativos, impondo exigências de segurança aos automóveis mais rígidas do que aquelas exigidas para o veículo a ser utilizado no serviço de táxi10. A medida foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Município não acatou a decisão da Corte, e manteve a legislação inconstitucional. Como consequência, batalha caso a caso, na justiça, numa luta perdida, o direito de regulamentar como bem entende padrão de utilização de automóveis nos aplicativos. Entretanto, há caminhos alternativos. Por que não integrar os aplicativos nas políticas públicas existentes? A empresa que introduz novas tecnologias e novos usos para os equipamentos urbanos impactantes na sustentabilidade urbana poderia ser chamada para colaborar para a redução dos impactos causados. Em vez de uma regulamentação restritiva, alta taxação ou proibição, o gestor poderia optar por cobrar das empresas uma colaboração concreta com 10
Em 9 de maio de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 1054110, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a proibição ou restrição, por meio de lei municipal, do transporte individual de passageiro por motoristas cadastrados em aplicativos. O tema também foi objeto de julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 449. BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019. Disponível em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/ visualizarEmenta.asp?s1=000267657&base=baseAcordaos. Acesso em: 20 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
251
a sustentabilidade urbana, conclamando a empresa de tecnologia a um olhar mais aprofundado do urbano. Nessa linha, o governo federal brasileiro lançou, em julho de 2019, o Programa Nacional de Estratégias para Cidades Inteligentes Sustentáveis, no Smart City Business Brazil. O programa busca estabelecer indicadores e metas e impulsionar soluções para a transformação das cidades brasileiras em cidades inteligentes11. Não é um desafio fácil. A busca da regulamentação adequada envolve etapas complexas. Em dezembro de 2019, foi assinado um acordo de cooperação para a criação de uma câmara técnica voltada a Cidades Inteligentes Sustentáveis: a “Câmara das Cidades 4.0”, que tem como proposta se tornar um fórum técnico para fornecer dados e subsídios à criação do Programa Brasileiro de Cidades Inteligentes Sustentáveis, e se baseia em estudos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). A proposta é construir uma Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, para orientar municípios e órgãos federais sobre como gerir a transformação digital, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável. Envolve a participação integrada do governo, sociedade civil, academia e setor privado, e pretende se basear nas premissas da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PRDN). São metas ainda muito abstratas12. No caso do uber, uma forma de colaborar com a sustentabilidade urbana sugerida é a responsabilização da empresa pelas obras de alargamento de vias estreitas, mais congestionadas com o aumento de veículos em circulação, em razão do serviço, ou pelo desenvolvimento de uma rede de informações úteis para a segurança pública. O uber, ainda, poderia trazer as opções de transporte público para o mesmo trajeto pretendido, o tempo estimado nos demais meios de transporte coletivo existentes, para que o usuário pudesse sopesar o custo-benefício da corrida. Outra forma de colaboração poderia consistir na integração do aplicativo de dispositivos que permitam às pessoas com deficiência utilizar os equipamentos urbanos de forma eficiente e segura, agregando um conhecimento obtido com a dimensão mundial do aplicativo. 11
12
CRUZ, Elaine Patrícia. “Governo lança programa de estratégias para cidades inteligentes”. In: Agência Brasil. Matéria publicada em 23/07/2019. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/governo-lanca-programa-de-estrategias-para-cidades-inteligentes. Acesso em: 10 jan. 2020. BRASIL. Portal do Governo Brasileiro. “Ministérios formalizam parceria para desenvolver soluções voltadas a Cidades Inteligentes Sustentáveis”. Matéria veiculada em 05 de dezembro de 2019. Disponível em: https://www.cidades.gov.br/ultimas-noticias/12473-ministerios-formalizam-parceria-para-desenvolver-solucoes-voltadas-a-cidades-inteligentes-sustentaveis. Acesso em: 30 jan. 2020.
252
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Certamente, a interação entre os aplicativos privados e as demandas de políticas públicas poderia trazer vantagens para todos os atores do urbano. As limitações de investimento são uma constante do setor público, em especial no terceiro mundo, o que faz com que aplicativos públicos não tenham a eficiência necessária ou não sejam atualizados com a velocidade imposta pelo mundo contemporâneo, fatores que condicionam sua rápida obsolescência. Nesse sentido, narram Ames Thurston da G3ict e Victor Piñeda da World Enabled a história de um sul-africano que usava um aplicativo criado pelo governo de sua cidade a fim de ajudar as pessoas a acessar o transporte público. Ele rastreava um ônibus com acesso a cadeirantes e ia de cadeira de rodas até o seu ponto no momento em que o ônibus chegava. No entanto, ele tinha de ficar parado observando o ônibus partir, pois o aplicativo não mencionava que ele teria de descer uma escadaria para ter acesso ao ponto de ônibus13. Outros aplicativos, como maps ou waze, poderiam trazer integrados locais aonde existem farmácias populares, postos de saúde, postos de serviço de assistência social, e outros serviços públicos relevantes, com disponibilização dos tempos de espera em cada um, links para estoques de medicamentos disponíveis, sem que o governo tivesse que arcar com exclusividade com o custo do desenvolvimento e atualização do aplicativo, nem com a divulgação do serviço. Em resumo, o esforço regulatório não deve ser o engessamento do Estado num modelo de parceria, do ponto de vista jurídico, e nem em regras rígidas para o exercício do poder de polícia, pois essa seria uma regulação natimorta. O conceito de cidade inteligente hoje está além da ideia de aplicativos bem-sucedidos no espaço urbano. O mercado tem um papel relevante no desenvolvimento tecnológico, o que é indiscutível. Contudo, a agressividade das empresas e seu impacto no meio urbano podem trazer consequências indigestas para as políticas públicas existentes, e os conflitos resultantes não colaboram para a boa distribuição dos ônus e benefícios urbanos. Os esforços de inovação devem estar contextualizados, inseridos no desenvolvimento e implantação de políticas públicas urbanas mais amplas. Como afirma Ferraz, “uma cidade somente poderá ser considerada “inteligente” na medida em que a sociedade, as instituições públicas e o mercado sejam mais inteligentes ou mais eficientes, mais prósperos, justos e democráticos”14. 13
14
“Cidades inteligentes aumentam a acessibilidade a pessoas com deficiência”. Matéria veiculada em 03 de agosto de 2017. Disponível em: https://share.america.gov/pt-br/cidades-inteligentes-aumentam-acessibilidade-pessoas-com-deficiencia/. Acesso em: 03 jan. 2020. FERRAZ, Fábio. “As cidades inteligentes devem ser reflexo de uma sociedade inteligente”. In: Nexo! Ensaio publicado em 22 de agosto de 2017. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ ensaio/2017/As-cidades-inteligentes-devem-ser-reflexo-de-uma-sociedade-inteligente?gclid=Cj0KCQiA4NTxBRDxARIsAHyp6gCINkVU_PCvsnIdTSHnSLJwHdB74b5R1bssqIWvp5EMbBcPmdKPV8UaApoOEALw_wcB. Acesso em: 04 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
253
IV. CONCLUSÃO: VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS A ideia de viabilidade15, ligada ao ciclo de políticas públicas, está relacionada aos processos de avaliação de políticas públicas nas dimensões tecnológica, alocativa e da escala na elaboração de um projeto de políticas públicas, quando realizado sob a ótica governamental16. No decorrer dos últimos trinta anos, desde a Constituição Federal de 1988, o Brasil vem desenvolvendo uma política pública urbana estruturada do ponto de vista jurídico, o que permite a afirmação de que, no país, existe um direito urbanístico com princípios próprios. Entre a aprovação de normas e sua efetividade, entretanto, há uma distância que requer não apenas metas e indicadores para ser superada. Para a implementação das propostas formuladas não basta a lei prever a participação democrática e o diálogo. É preciso que os principais atores do urbano estejam de fato abertos ao diálogo e a mudanças de paradigmas, admitindo o uso de tecnologia “de modo transversal para administrar mais eficientemente os serviços e recursos públicos”, com a exposição das fraquezas da gestão e com a superação de amarras legais como a ânsia do controle de viés punitivo. Apenas com a revelação das fragilidades da gestão, frente a seus recursos humanos limitados e legislações ineficientes, será possível se alcançar soluções tecnológicas em que todos saem ganhando, conferindo-se um novo papel no urbano aos atores do capital. Assim, a empresa que divulgar serviços públicos disponíveis de forma integrada aos aplicativos deve ser beneficiada por uma política pública de fomento bem estruturada. Os incentivos não precisam se resumir à renúncia fiscal ou financiamento público (que tendem a aprofundar desigualdades), mas se consubstanciar num melhor uso do próprio espaço urbano, como, 15
16
“Destarte, a avaliação da viabilidade econômica, financeira e social das políticas públicas, passa a ser o instrumento de medição de eficiência: sobre a ótica do setor privado, para garantir o máximo de lucro e crescimento econômico (geração de renda e emprego); sobre a ótica governamental, para garantir a sustentabilidade do crescimento econômico ou o ótimo econômico de bem-estar da população; sobre a ótica social, para garantir a distribuição equânime dos frutos do crescimento e/ou do desenvolvimento econômico”. MAIA, J.A.F.; SILVA, S.A.; SILVA, C.A. Metodologia para avaliação econômica e social de políticas públicas. In: Sitientibus, Feira de Santana, n.32, p.167-192, jan./jun. 2005 - uefs.br., p. 167192. Disponível em: http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/32/metodologia_para_avaliacao_economica. pdf. Acesso em: 19 nov. 2019, p. 168. Contempla os seguintes estudos: (i) a viabilidade financeira (análise dos impactos distributivos financeiros e fiscais, mensurados a preços de mercado); (ii) a viabilidade econômica (maximização do bem-estar econômico); (iii) a viabilidade social, que contempla o valor subjetivo dos diversos seguimentos da população público-alvo, associado ao mérito e ao princípio da equidade distributiva dos benefícios e custos dos bens públicos e quase públicos. MAIA, J.A.F.; SILVA, S.A.; SILVA, C.A. Op. cit., p. 168-169.
254
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
por exemplo, disponibilizar áreas públicas subaproveitadas para uso privado com a contrapartida de manutenção de determinadas informações de interesse público disponibilizadas de forma atualizada em aplicativos muito utilizados pela população no seu dia a dia, colaborando assim com a efetividade dos serviços públicos. A divulgação de áreas de risco geológico poderia ser realizada da mesma forma, possibilitando que seus ocupantes desocupem o local nas temporadas de chuva. Os aplicativos que se dispusessem a informar, de forma gratuita ao cidadão, dados relevantes, viabilizando a necessária comunicação entre o indivíduo e a administração, e se comprometessem a manter essa informação atualizada poderiam ser beneficiados com uma ação de fomento, consistente na remuneração pela rápida remoção das populações dessas áreas, em caso de alerta, colaborando dessa forma com a defesa civil. A cidade inteligente requer conectividade, que gera eficiência, e por sua vez gera riqueza para a cidade. Não é possível imaginar que o Estado consiga dar conta de acompanhar o avanço tecnológico das cidades inteligentes sem investimentos. Assim, a gestão urbana deve ser hábil o suficiente para superar os conflitos entre os atores do urbano e, respeitada a diversidade de interesses, fazer uso inteligente e estratégico dos aplicativos privados para colher informações, gerenciá-las e planejar melhor suas ações na busca da cidade sustentável. As propostas formuladas são viáveis, dentro do sistema jurídico brasileiro, sem alterações legislativas, requerendo para tanto poucos requisitos: (i) renúncia à regulamentação através de leis formais rígidas, caminho que talvez já esteja aberto, com a adoção de uma carta, e não uma lei, como marco regulatório; (ii) diálogo horizontal com os atores do urbano relevantes economicamente em cada espaço urbano; (iii) flexibilização dos instrumentos de fomento, trocando-se as contrapartidas financeiras por contrapartidas que permitam a efetiva colaboração digital, no meio urbano, entre o público e o privado.
Capítulo 21 Direito à Cidade como o Coração para o Desenvolvimento de Cidades Humanas e Inclusivas Nelson Saule Jr.
1. INTRODUÇÃO O direito à cidade deve ser considerado como um novo paradigma para enfrentar os principais desafios das cidades e dos assentamentos humanos de rápida urbanização, redução da pobreza, exclusão social e risco ambiental, que exigem ações decisivas e novas prioridades políticas nacionais, regionais e governos locais. O Direito à Cidade é o coração para o desenvolvimento de cidades humanas e inclusivas que tomem todas as medidas necessárias, normativa, urbana, econômica e social, para o atendimento das necessidades dos presentes e futuros habitantes, em especial das mulheres, crianças, idosos, de grupos em situação de pobreza ou vulnerabilidade, afrodescendentes, indígenas, deslocados, migrantes, mestiços, LGBTIQA e com deficiência, entre outros. 2. DA RELEVÂNCIA DO DIREITO À CIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES HUMANAS E INCLUSIVAS Cada vez mais cresce a população vivendo em cidades no mundo com mais de 3.300 bilhões de pessoas em áreas metropolitanas, megacidades, e uma variedade de aglomerados urbanos. No Brasil, a urbanização foi extremamente acelerada em menos de 30 anos em que passamos de um país rural para urbano no século XX com aproximadamente 80% sendo considerada como população urbana. Esse processo de urbanização trouxe vários desafios urgentes do nosso tempo, tais como, injustiça social, desigualdade social, periferias carentes de infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos, segregação entre populações de classes socias pobres e de alta renda, utilização e ocupação privada de espaços públicos, degradação do meio ambiente como diminuição de matas e vegetações, poluição de rios e poluição do ar, prevalência de interesses imobiliários sobre os interesses dos moradores.
256
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Nessa década, essas preocupações foram tratadas pelos países na Organização das Nações Unidas – ONU que aprovaram duas agendas globais com vários compromissos e metas para os países desenvolverem cidades mais humanas, inclusivas e sustentáveis. Uma delas é a Agenda 2030 que contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo um deles o de cidades sustentáveis. A outra é a Nova Agenda Urbana que contém como visão para o desenvolvimento das cidades o direito à cidade. Vale destacar as mensagens: “não deixe ninguém para trás” (Agenda 2030-2015) e “não deixe nenhum lugar para trás” (Declaração do 9º Fórum Urbano Mundial das Nações Unidas 2018). No Brasil, desde o ano de 2001 temos uma lei nacional de desenvolvimento urbano chamada “Estatuto das Cidades” que contém um conjunto de princípios e diretrizes e instrumentos de natureza jurídica e urbanística para enfrentar os problemas que temos em nossas cidades, tais como a situação das favelas, de áreas de risco, de diminuição de áreas verdes e de espaços públicos, de ausência de participação política dos habitantes. Dentre essas diretrizes, destacamos o reconhecimento do direito à cidade como um direito dos atuais e futuros habitantes das cidades. 3. A CONCEPÇÃO DO DIREITO À CIDADE NO ESTATUTO DAS CIDADES O período de elaboração do Estatuto das Cidades no Congresso Nacional perdurou mais de 10 anos (1989-2001) em razão da resistência de grupos políticos conservadores de tornar viável a implementação da política urbana voltada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade e da cidade. Nesse período, as discussões e formulações sobre as conexões entre direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade feitas na ocorrência das Conferências Globais das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992) e sobre Assentamentos Humanos – Habitat II (Istambul, 1996) e da Conferência Nacional das Cidades (Brasília – Câmara dos Deputados, 1999) e as experiências de gestões municipais participativas vivenciadas em diversos Municípios brasileiros por governos do campo democrático e popular foram fundamentais para a passagem da visão de direitos urbanos para a do direito à cidade que foi adotada no Estatuto das Cidades. Nessa evolução, esse direito é qualificado como o direito a cidades sustentáveis, trazendo a dimensão da sustentabilidade para nossas cidades, que deve ser alcançada através de uma política urbana que garanta o seu exercício. São compreendidos como seus componentes a terra urbana, a moradia, o saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, o transporte e os serviços públicos, o trabalho e o lazer. Os elementos da condição de vida urbana digna são os
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
257
que predominam nessa visão do direito à cidade que foram transportados da visão dos direitos urbanos. A gestão democrática das cidades prevista no inciso II do artigo 2º do Estatuto das Cidades também é um dos componentes do direito a cidades sustentáveis através de uma interpretação integrada das diretrizes da política urbana definidas nessa legislação. Quanto às pessoas consideradas como titulares do direito a cidades sustentáveis, é adotada a mesma compreensão estabelecida para o direito ao meio ambiente. Esse direito tem como titulares as presentes e futuras gerações. Em razão do Estatuto das Cidades ter sido pioneiro como uma legislação nacional que incorpora o direito à cidade na dimensão legal e institucional, essa concepção foi uma fonte inspiradora para o processo de internacionalização do direito à cidade que teve como espaço privilegiado os Fóruns Sociais Mundiais organizados no Brasil na cidade de Porto Alegre nos primeiros anos da década de 2000. 4. QUESTÕES PARA UMA VISÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO DIREITO À CIDADE Algumas questões precisam ser aprofundadas para uma consolidação da visão do direito à cidade no Brasil e na construção de uma visão universal no processo de internacionalização desse direito, dentre as quais destacamos as seguintes: Qual deve ser a compreensão do termo “cidades” no âmbito do direito à cidade? Para termos essa compreensão, devemos considerar os seguintes: território (urbano e rural), tipologias de cidades, tamanho e densidade populacional, organização institucional (política e administrativo) das cidades. Por exemplo, no Brasil temos uma enorme limitação legal de compreensão de cidades que é definida como sede de Municípios pelo artigo 3º do Decreto-Lei 311 de 1938: A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome. Quem são as pessoas que devem ser reconhecidas como titulares do direito à cidade considerando os seguintes aspectos: geracional, nacionalidade, diversidade de habitantes que vivem, trabalham e usufruem das cidades, período de residência ou permanência na cidade? Qual é a categoria do direito à cidade no campo dos direitos humanos? Individual, coletivo ou difuso? Como as pessoas podem exercer o direito à cidade e para qual finalidade? Qual deve ser o objeto ou bem de proteção legal e jurídica do direito à cidade? Em vários países como também no Brasil, temos cidades declaradas como de patrimônio histórico ou cultural que resultam numa proteção legal e jurídica para preservar a memória e identidade dessas cidades.
258
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
5. DOS TITULARES DO DIREITO À CIDADE Um elemento que deve ser considerado na noção jurídica do direito à cidade é sobre as pessoas serem titulares para terem a proteção e o exercício desse direito. Um aspecto positivo da evolução sobre os direitos humanos é o da compreensão da pessoa humana abstrata para uma qualificação dessa pessoa em razão da sua condição referente a gerações, gênero, idade, raça, etnia, capacidade civil penal e política, etc. Bobbio (1996, p. 68) ao tratar da multiplicação dos direitos considera que ela ocorreu de três modos: a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não é mais considerado como ente genérico de homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc.1 É necessário, para precisar quem são as pessoas titulares do direito à cidade, considerar como um marco referencial a Carta Mundial do Direito à Cidade, elaborada por um conjunto de organizações internacionais durante os Fóruns Sociais Mundiais realizados na cidade de Porto Alegre na década de 20002. Por essa Carta, no item 6 do artigo 1º, se considera cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de forma permanente ou transitória as cidades, adotando a compreensão de habitantes como titulares do direito à cidade. Esse entendimento foi adotado pela Nova Agenda Urbana3, que foi aprovado na Conferência das Nações Unidas do Habitat III, que foi realizada na 1
2
3
Norberto Bobbio. Direitos do Homem e Sociedade – Era dos Direitos. Editora Campus: Rio de Janeiro 1996, p. 68. Essa Carta é uma fonte importante para a compreensão do Direito à cidade no plano internacional, tendo sido uma referência importante para a incorporação desse direito na Nova Agenda Urbana aprovada na Conferência das Nações Unidas do Habitat III realizada na cidade de Quito no ano de 2016. O artigo 1º dessa carta contém a seguinte compreensão do direito à Cidade: 1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural em conformidade com os princípios e normas que se estabelecem nesta carta. 2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão devida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais Inclui também o direito a liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e cultural. 3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os seus habitantes. Ver Nova Agenda Urbana. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese -Brazil.pdf.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
259
cidade de Quito no ano de 2016 no seu parágrafo 11, a qual versa sobre a visão do direito à cidade nos seguintes termos: Compartilhamos uma visão de cidade para todos, referente à fruição e ao uso igualitários de cidades e assentamentos humanos, almejando promover inclusão e assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes e sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos. Salientamos os esforços envidados por alguns governos nacionais e locais no sentido de consagrar esta visão, referida como direito à cidade, em suas legislações, declarações políticas e diplomas. Na Constituição Federal, o artigo 182 definiu como objetivo dessa política o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, e o Estatuto das Cidades ao tratar do direito a cidades sustentáveis considera que esse direito deve ser garantido para as presentes e futuras gerações. O Município, com base em suas competências constitucionais sobre a política urbana, pode perfeitamente estabelecer que os habitantes que vivem em seu território são os titulares desse direito O Município de São Paulo, por exemplo, pela sua Lei Orgânica ao tratar da política urbana em seu artigo 148, estabelece como um dos objetivos dessa política garantir o bem-estar de seus habitantes, visando assegurar o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, e no seu plano do direito, através do § 1º do artigo1º, preconiza que essa política tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes4. Com uma leitura integrada do texto constitucional sobre a política urbana e o do conceito jurídico sobre o direito à cidade no Estatuto da Cidade, podemos afirmar que as pessoas titulares desse direito são os habitantes das gerações presentes e futuras das cidades. Questão importante é sobre as pessoas poderem ser consideradas como habitantes das cidades. Um componente para essa qualificação diz respeito à temporalidade da residência das pessoas nas cidades. A tendência mais simples é que se entende que as pessoas residem de forma permanente na cidade considerando o período de residência, moradia própria, trabalho e atividade econômica, relações familiares, vida social, etc. Todavia, essa compreensão não contempla diversas realidades de pessoas que vivem de forma temporária na cidade, como, por exemplo, estudantes, tra4
Ver plano diretor Lei nº 16.050, de 31 de julho de2014. Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura. sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf.
260
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
balhadores, prestadores de serviços, tratamento médico etc., e também que não adquiriram o status de residente permanente pela questão de nacionalidade, como ocorre, por exemplo, em várias de nossas cidades onde vivem imigrantes ou refugiados de países latinos e africanos. Essas diversas situações justificam que devemos entender que os habitantes das cidades com relação ao período de residência são as pessoas que vivem de forma permanente, temporária ou transitória. Quanto à condição de informalidade ou mesmo ilegalidade das pessoas que vivem na cidade ser um impedimento ou não para serem considerados habitantes titulares do direito à cidade é outra questão importante. Além dos imigrantes ou refugiados que podem estar nessa condição, se enquadram também as pessoas que são trabalhadores informais como ambulantes, catadores de resíduos, moradores de assentamentos precários informais, como favelas, cortiços, bairros populares, moradores de rua etc. A Nova Agenda Urbana na parte que versa sobre a chamada de “ação” (Parágrafo 20) deixa claro que essas pessoas devem ter uma particular atenção por serem pessoas que sofrem discriminação: Reconhecemos a necessidade de dar particular atenção ao enfrentamento das múltiplas formas de discriminação enfrentadas por, inter alia, mulheres e meninas, crianças e jovens, pessoas com deficiências, pessoas vivendo com SIDA, idosos, povos autóctones e comunidades locais, moradores de musseques, favelas, caniços, bairros de lata e assentamentos informais, desabrigados, trabalhadores, pequenos produtores rurais e pescadores, refugiados, retornados, deslocados e migrantes, independentemente do estatuto legal de sua migração. Com base no direito fundamental que nenhuma pessoa pode sofrer qualquer tipo de discriminação e no princípio das funções sociais da cidade, as pessoas que se encontram nas condições de marginalidade e vulnerabilidade não podem ser excluídas da condição de cidadania e, portanto, não podem ser excluídas da condição de habitantes quanto à titularidade do direito à cidade . Sobre a titularidade desse direito para a sua efetividade, devemos compreender que são as pessoas habitantes de presentes e futuras gerações que vivem de forma permanente ou temporária ou transitória nas cidades, contemplando as pessoas que estejam vivendo em situação de informalidade e vulnerabilidade. 6. DA NECESSIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VISÃO INTERNACIONAL SOBRE O DIREITO À CIDADE NA POLÍTICA URBANA NO BRASIL O direito à cidade como elemento estratégico para o desenvolvimento de cidades humanas e inclusivas tem sido uma reivindicação e uma alternativa como referência para oferecermos soluções concretas, com um forte potencial
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
261
de transformação de nossas cidades, também tem sido uma maneira de reafirmar, atualizar e defender direitos humanos dos habitantes das cidades e as correspondentes obrigações dos Governos no caso do Brasil e dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. A compreensão do direito à cidade baseada nos documentos da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat III realizada em 2016 na cidade de Quito – Equador e na rede internacional Plataforma Global do Direito à Cidade é a seguinte: é o direito de todos os habitantes presentes e futuros ocupar, usar e produzir cidades justas, inclusivas e sustentáveis, definido como um bem comum essencial à qualidade de vida. A cidade é definida como um bem comum para uma adequada condição de vida contendo os seguintes componentes: a cidade livre de discriminação; a cidade com cidadania inclusiva; a cidade com maior participação política; a cidade com as suas funções sociais; a cidade com espaços públicos de qualidade; a cidade com igualdade de gênero; a cidade com diversidade cultural; a cidade com economias inclusivas, a cidade como um sistema de assentamento e ecossistema comum. O Direito à Cidade implica em responsabilidades para os governos, autoridades e gestores públicos e do setor privado e no direito dos habitantes de reivindicar, defender e promover esse direito. O direito à cidade contribui para a integralização e materialização dos direitos humanos no território das cidades (área urbana e rural) e pode ser exercido em cada metrópole, cidade, vila organizada institucionalmente como uma unidade local de administração de caráter municipal ou metropolitano, o que inclui espaço urbano e ambiente rural ou semirrural como parte de seu território. 7. DAS RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES HUMANAS E INCLUSIVAS Para a implementação do direito à cidade para o desenvolvimento de cidades humanas e inclusivas, devem ser promovidas ações e iniciativas, projetos, programas e políticas públicas nas cidades com base nos componentes desse direito: • A cidade livre de discriminação com base no sexo, idade, estado de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, ou orientação política, religiosa ou sexual. • A cidade com cidadania inclusiva na qual todos os habitantes, permanente ou transitórios, são considerados como cidadãos e concede direitos iguais, por exemplo, as mulheres, as pessoas que vivem na
262
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
pobreza ou situações de risco ambiental, trabalhadores da economia informal, grupos étnicos e religiosos, pessoas LGBT, a forma diferente abled, crianças, jovens, idosos, migrantes, refugiados, moradores de rua, vítimas da violência e os povos indígenas. • A cidade com maior participação política na definição, implementação, monitoramento e orçamentação das políticas urbanas e de ordenamento do território, a fim de reforçar a transparência, a eficácia e a inclusão da diversidade de habitantes e suas organizações. • a cidade com as suas funções sociais, ou seja, garante o acesso equitativo de todos à habitação, bens, serviços e oportunidades urbanas, especialmente para as mulheres e outros grupos marginalizados, uma cidade que prioriza o interesse público coletivamente definido, garantindo um uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos e rurais. • Uma cidade com espaços públicos de qualidade que melhora a interação social e participação política, promove as expressões socioculturais, abraça a diversidade e promove a coesão social, uma cidade onde os espaços públicos contribuem para a construção de cidades mais seguras e para satisfazer as necessidades dos habitantes. • a cidade com igualdade de gênero que adota todas as medidas necessárias para combater a discriminação em todas as suas formas contra as mulheres, homens e pessoas LGBT, em termos políticos, sociais, econômicos e culturais, uma cidade que tome todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento das mulheres, para garantir-lhes a igualdade no exercício e o cumprimento dos direitos humanos fundamentais e uma vida livre de violência. • a cidade com diversidade cultural, que respeita, protege e promove os diversos meios de vida, costumes, memórias, identidades, expressões e práticas culturais e artísticas dos seus habitantes, exige respeitar e valorizar todas as religiões, etnias, línguas, culturas e costumes, que apoia as diversas formas artísticas (música, dança, pinturas, grafites, esculturas etc.) como meio de liberar o potencial social e a criatividade dos habitantes em especial dos jovens, e construir comunidades pacíficas e solidárias, bem como incentivar e fomentar a recreação e o lazer como parte de uma vida plena. • a cidade com economias inclusivas, que garante o acesso a meios de subsistência e trabalho decente para todos os habitantes, que dá espaço a outras economias, como a economia solidária, consumo colaborativo, economia circular, e que reconhece o papel das mulheres na economia do cuidado. • a cidade como um sistema de assentamento e ecossistema comum que respeita os vínculos rural-urbano e protege a biodiversidade, ha-
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
263
bitats naturais e ecossistemas circundantes e suporta cidades-regiões, cooperação cidade-cidade e conectividade. 8. DOCUMENTOS CONSULTADOS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento foi adotada pela Resolução 41/128 da Assembleia das Nações Unidas, 1986. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html. NAÇÕES UNIDAS. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003). Disponível em: http:// portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf. NAÇÕES UNIDAS. Nova Agenda Urbana 2016. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf. PLATAFORMA GLOBAL DIREITO À CIDADE. Disponível em: https://www.right2city.org/. RIGHT TO THE CITY AGENDA – For the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the New Urban Agenda 2018. Disponível em: http://polis.org.br/publicacoes/right-to-the-city-agenda-for-the-implementation-of-the-2030-agenda-for-sustainable-development-and-the-new-urban-agenda/. RIO 92. Tratado sobre a Questão Urbana por Cidades Vilas e Povoados Justos Democráticos e Sustentáveis. Disponível em: https://docplayer.com.br/23279786-Tratados-sobre-a-questao-urbana-por-cidades-vilas-e-povoados-justos-democraticos-e-sustentaveis-preambulo.html.
Capítulo 22 Cidade Inovadora e Multicultural como Instrumento de Enfrentamento à Exclusão Flávio de Leão Bastos Pereira “Uma cidade é um mundo se amarmos um de seus habitantes.” (Lawrence George Durrell)
1. CIDADES, ASSIMETRIAS E DESIGUALDADE O pensamento externado pelo romancista, poeta e dramaturgo britânico Lawrence George Durrell, em sua evidente simplicidade e discrição, contém, entretanto, em seu âmago duas ideias essenciais relacionadas às reflexões ora propostas: (i) num primeiro plano, a visão de que as cidades refletem, em suas realidades e dimensões físicas e culturais, a própria humanidade; e (ii) que referidas concentrações urbanas cumprirão com seu sentido e como condicionante de sua existência, conforme o modo pelo qual referidas estruturas se relacionam – e se relacionarão no futuro – com seus habitantes, com a assunção da condição de base receptiva a uma cidadania participativa e pautada pela dignidade da pessoa humana. As cidades constituem o prisma pelo qual o exercício de grande parcela dos direitos fundamentais é viabilizado – ou negado ao cidadão – tal como o direito de ir e vir, o direito ao transporte e à mobilidade, o direito ao trabalho, o direito às manifestações culturais,; o direito à acessibilidade assim vislumbrado em sua acepção lata etc. Já tivermos a oportunidade de observar que [...] O Estado brasileiro, em seus planejamentos urbanísticos, jamais priorizou o cidadão...O direito à mobilidade, como direito fundamental, decorre também do direito à cidade, este considerado sob uma perspectiva precedente àquele. Possuímos o direito essencial de ir e vir, inclusive ao local de trabalho ou ao lar, ao lazer etc. exatamente porque somos cidadãos, vivemos em cidades, estruturas complexas surgidas após o rompimento do sistema feudal e por
266
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
força do Revolução Industrial causadora do êxodo dos campos por parte das populações e busca de trabalho nas grandes cidades.[...]1
Este o sentido essencial e razão de ser das concentrações urbanas: tornar melhor a vida de todos os cidadãos, sem discriminações assim consideradas em todas as suas intersecções (overlapping discrimination) e com sua função transformadora do meio e dos entornos em instrumentos potencializadores das capacidades humanas e satisfativos de suas necessidades. Nesse sentido, pode-se entender as assimetrias urbanas e sua função mantenedora de parâmetros de desigualdades no caso brasileiro, seletivos na verdade, quanto à manutenção das referidas exclusões como resultados de processos históricos, econômicos e sociais que mantêm dinâmicas de mobilidade e inserção cidadã sob parâmetros contrários aos princípios, normas e tratados internacionais de direitos humanos relacionados às ideias de sustentabilidade, de inclusão e de convergência de funcionalidades tendentes a melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, sem qualquer espécie de discriminação, contexto que conduz tal estruturação à ideia de cidades inteligentes (smart cities), conceito que, como veremos mais adiante, requer certo cuidado. 1.1. Cidades Brasileiras: Assimetrias Referidos objetivos acima citados parecem de efetivação distante quando se passa à análise das dinâmicas de crescimento urbano das principais cidades brasileiras. Marcadas por profundas assimetrias e desigualdades decorrentes de processos colonialistas, desenvolvimentistas e discriminatórios que assinalam a história brasileira, o planejamento urbano decorrente das mencionadas dinâmicas não se revela suficiente e voltado para a eliminação da formação constante de bolsões que estratificam as divisões étnico-socioeconômicas da sociedade brasileira, assim como seu comprometimento ambiental, com a eliminação de importantes referenciais históricos, paisagísticos e culturais, consequências de crescimentos urbanos não planejados e ações predatórias por força da especulação imobiliária, fatores aos quais se deve acrescentar a atuação do Estado vulnerável diante do poder econômico e que, acrescente-se, estruturalmente não considera a inclusão das populações vulneráveis sob o ponto de vista étnico-econômico-social, em suas políticas públicas. Decisões políticas equivocadas e que não consideraram a relação inafastável entre cidades, cidadania e direitos humanos em todas as suas dimensões comprometeram a concepção de espaços públicos democráticos e inclusivos. 1
PEREIRA, Flávio de Leão Bastos. A Fundamentalidade do Direito à Mobilidade Urbana, p. 21. Obra coletiva Mobilidade Urbana – Desafios e Sustentabilidade. PIRES, Antonio Cecilio Moreira; PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira (Orgs). São Paulo: Ponto e Linha, 2016. Projeto Mackpesquisa.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
267
Importante apontar o histórico que marca o processo de urbanização das cidades brasileiras, especialmente ocorrido a partir da década de cinquenta com o processo de industrialização do país iniciado na década de 30 e com a crescente concentração fundiária quando grande parte da população brasileira passa a buscar nas principais cidades – inicialmente do sudeste e posteriormente no centro-oeste por força da construção de Brasília – melhores condições de vida e que não encontravam no campo pelas razões acima mencionadas2. A partir dos anos 70 já mais da metade da população brasileira habitava as cidades, acompanhado tal processo por seus efeitos colaterais, tais como, o crescimento desenfreado de favelas, bairros pobres periféricos sem qualquer infraestrutura sanitária mínima, ao que se soma a submissão de seus moradores à violência crescente do crime organizado em todas as suas manifestações. Referida dinâmica de urbanização encontra-se também entre as causas da degradação ambiental. Dados colhidos a cada exercício e compilados pelo denominado “Mapa da Desigualdade 20173”4 bem demonstram os contrastes que marcam a sociedade brasileira, refletidos pelas contradições em termos de qualidade de vida presentes no Estado de São Paulo. O mapeamento anualmente realizado pela Rede Nossa São Paulo apresenta dados sobre os principais aspectos que marcam avanços e retrocessos na relação entre cidadania e urbanização no Estado de São Paulo. Foram, assim, analisados os dados abaixo apresentados e que demonstram as contradições que assinalam a qualidade de vida entre os cidadãos de bairros e distritos privilegiados em relação aos que vivem em regiões periféricas: a) Arborização Viária – número de árvores no sistema viário por distrito administrativo (cidade de São Paulo): - 16.192 – Santo Amaro. - 9.666 – Jardim Paulista. - 6.994 – Perdizes. - 1.290 – Brás. - 675 – Marsilac. - 518 – Sé. 2
3
4
Informa Gobbi que: [...] Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o Sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias.[...] . GOBBI, Leonardo Delfim. Urbanização Brasileira. Disponível em: http:// educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-brasileira.html. Acesso em: 07.03.2020. OXFAM BRASIL. Mapa da Desigualdade 2017. Disponível em: https://oxfam.org.br/noticias/mapa-da-desigualdade-2017-revela-os-muitos-contrastes-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0agEn2O_BKLkveCCw-qwXXVV9NZBwM6RuOYNoZRgjSawiigmIlehayRoCLZAQAvD_BwE. Acesso em 07.03.2020. Para acesso aos dados do Mapa da Desigualdade 2019 acesse https://www.nossasaopaulo.org. br/2019/11/05/mapa-da-desigualdade-2019-e-lancado-em-sao-paulo/.
268
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
b) Arborização Viária – número de árvores no sistema viário por distrito administrativo (cidade de São Paulo): - 16.192 – Santo Amaro. - 9.666 – Jardim Paulista. - 6.994 - Perdizes. - 1.290 – Brás. - 675 – Marsilac. - 518 – Sé. c) Mortes no trânsito – Número de mortes em acidentes de trânsito por 100 mil habitantes (cidade de São Paulo): - 0 – Consolação. - 4,80 – Alto de Pinheiros. - 10,25 – São Miguel. - 15,14 – Parelheiros. - 16,37 – Pari. d) Leitos Hospitalares – Proporção de leitos hospitalares públicos e privados disponíveis por mil habitantes (cidade de São Paulo): - 46,34 – Bela Vista. - 34,70 – Jardim Paulista. - 19,97 – Moema. - 0,086 – Capão Redondo. - 0 – Parelheiros. - 0 – Aricanduva. - 0 – Cangaíba. e) Museus – Número de museus, municipais, estaduais, federais e particulares, por 10 mil habitantes (cidade de São Paulo): - 4,32 – Sé. - 1,38 – Consolação. - 0 – Rio Pequeno. - 0 – Pedreira. - 0 – Cidade Tiradentes. f) Concentração Imobiliária no Município de São Paulo: 1% dos proprietários concentra 25% de todos os imóveis registrados da cidade (45% do valor imobiliário municipal – R$ 749 bilhões – equivalente à média de R$ 34 milhões por pessoa)5. 5
O Estado de São Paulo. 1% dos donos de imóveis concentra 45% do valor imobiliário de São Paulo, 13.08.2016. Disponível em: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,1-dos-donos-de-imoveis-concentra-45-do-valor-imobiliario-de-sao-paulo,10000069287. Acesso em: 07.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
269
A amostragem acima projeta os desafios que se apresentam não apenas ao Estado de São Paulo, mas também a todo o Brasil e ao planeta, na medida em que os aspectos analisados se inter-relacionam de modo indissociável quando objetivos precisos são estabelecidos para a melhoria da qualidade de vida das populações em todos os continentes, especialmente as mais desfavorecidas e vulneráveis. Assim, a articulação de políticas públicas para moradia e para preservação do meio ambiente, por exemplo, é pressuposto inafastável, assim, também, ações públicas e privadas para articulação do transporte público com a vida cultural de certa comunidade, entre outros exemplos. Neste ponto, passamos a vislumbrar a ideia de cidades inteligentes. Como dito, com distintos graus evolutivos e avanços, a sustentabilidade nos principais centros urbanos de cada continente passou a ocupar a agenda das políticas públicas, ao que se soma a busca pelo consenso nos foros global e regionais. Importante passo foi conquistado com o estabelecimento da Agenda 2030 das Nações Unidas e que guarda relação direta com a questão da urbanização, como se verá. 2. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E O OBJETIVO SUSTENTÁVEL Nº 11 (ODS 11) Os objetivos sustentáveis das Nações Unidas constituem uma agenda voltada aos indivíduos, Estados, empresas e organizações internacionais e que estabelecem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas não alcançados pelos então denominados “objetivos do milênio”. Seu principal escopo é a eliminação da pobreza no mundo, passo indispensável para o estabelecimento de um futuro global marcado pela sustentabilidade, no planeta, razão pela qual a pobreza e miséria devem ser combatidas e eliminadas. Os planejamentos urbanos formulados e efetivados sob os princípios da sustentabilidade, equilíbrio na distribuição de riquezas e produtividade voltada para o combate à fome ganham, pois, em importância na escala de ações a serem adotadas por todos os países, em colaboração. Os desafios oriundos das violações aos direitos humanos decorrentes da discriminação de gênero tampouco foram esquecidos no estabelecimento da agenda 2030 das Nações Unidas, que esclarece6: [...] Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão 6
NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 06.03.2020.
270
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. [...] (Grifamos)
A já tradicional inseparabilidade e inter-relacionalidade entre as dimensões dos direitos humanos é ressaltada como elemento componente da base sobre a qual são edificados os princípios da Agenda 2030 das Nações Unidas: vale dizer, não será possível eliminar a pobreza e a degradação ambiental sem que ações políticas, sociais e econômicas, nos âmbitos nacionais e também no âmbito global, sejam adotadas sob uma perspectiva holística. Daí a íntima relação entre o contexto ora analisado e o planejamento sustentável para o desenvolvimento inteligente dos centros urbanos. Não sem razão, resulta de especial interesse para o tema ora proposto o denominado “Objetivo Sustentável” (ODS) nº 11 nominado como “Cidades e Comunidades Sustentáveis”. Contudo, referido ODS não poderia ser diferente, dialoga de forma direta e imprescindível com Diálogo com a ODS nº 01 (Erradicação da Pobreza); ODS nº 08 (Emprego Digno e Crescimento Econômico) e ODS nº 10 (Redução das Desigualdades). Nota-se claramente a relação de causa e efeito entre tais questões e os graves problemas enfrentados para o planejamento urbano nas principais cidades, especialmente do hemisfério sul. Assim, o subdesenvolvimento de regiões negligenciadas pelo Poder Público apresenta clara intersecção com a seletividade étnica, econômica e social, especialmente num país de dimensões continentais como o Brasil, no qual cerca de 84,72% da população vive nas cidades7, portanto uma taxa de urbanização superior à da América Latina (em torno de 80%). A partir das constatações acima, pode-se compreender melhor as causas das principais assimetrias e que devem ser enfrentadas já para os próximos anos: a marginalização de migrantes assimetricamente absorvidos pelas cidades – ou não absorvidos, atores sociais vulneráveis que denominamos de “refugiados socioambientais”; invisibilidade remoções das referidas populações desfavorecidas e que vivem em áreas periféricas e favelas não incluídas no processo de construção da cidadania democrática e participativa; violência urbana; ausência de redes de proteção à saúde e educação; grave situação no que tange à precária rede de saneamento básico nas citadas regiões; elevado índice de desemprego, em parte causado pela inexistência de políticas públicas para a oferta de serviços de educação de qualidade, entre outros. Some-se a tal rol de desafios a específica situação dos milhares de indivíduos indígenas expulsos 7
IBGE-EDUCA. População Rural e Urbana. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca -o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html . Acesso em: 06.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
271
de suas terras ancestrais ou reservas por garimpeiros, pistoleiros contratados, mineradoras etc. e que passam a habitar as grandes cidades na condição de miserabilidade; padecendo sob o uso do álcool e de drogas, consequência direta da ruptura a que são submetidos, com suas raízes cosmológicas, situação agravada pelas dinâmicas de proletarização e assalariamento dos povos indígenas, ao que se soma o avanço da tecnologia geradora de desemprego. Nesse sentido, afirma Elizângela Cardoso de Araújo Silva8: [...] Os processos constantes de expulsão de indígenas leva-os a compor uma massa de trabalhadores espoliados e em condições de extrema precariedade, seja nas pequenas ou nas grandes cidades... As condições de continuidade da vida indígena envolvem uma lista infindável de ameaças, tanto para os povos que vivem nas florestas como para os que vivem na caatinga sertaneja, dos ribeirinhos do sertão aos litorâneos, que passam a assumir vida de migrantes, adentrando nas filas do proletariado urbano ou nos bolsões de pobreza das grandes cidades [...]
Significa afirmar que a preservação dos referenciais culturais das diversas e multifacetadas comunidades que habitam o Brasil, com estímulo e apoio do Estado para o desenvolvimento econômico e sustentável de suas respectivas regiões, constitui caminho a ser avaliado em conformidade, inclusive, com os princípios e normas do direito brasileiro e, também, com o direito internacional. 3. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS Em relação aos possíveis caminhos a serem trilhados rumo a um modelo de cidade inclusiva, humana e inteligente, com a redução e talvez eliminação dos fatores presentes nas causas das assimetrias acima apontadas, eles parecem depender não apenas de aportes substanciais de investimentos – o que pressupõe governos competentes para atrair investimentos nacionais e estrangeiros e sensatos do ponto de vista do relacionamento político, mas também e, essencialmente, de mudanças de paradigmas e de visão acerca das funções que os centros urbanos devem exercer em relação ao bem-estar de suas populações. Nesse sentido, podemos apontar alguns caminhos, entre os quais reconhecidos e indicados pelos estudiosos: a) Incremento de investimentos nas regiões periféricas, preferencialmente (saneamento básico, escolas, cultura etc.) para melhoria da qualidade vida de seus habitantes; 8
SILVA, Elizângela Cardoso de Araújo. Povos indígenas e o direito à terra na realidade brasileira, p. 498. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n133/0101-6628-sssoc-133-0480.pdf. Acesso em: 07.03.2020.
272
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
b) Estímulo para criação de polos de empregos em regiões distantes do centro; c) Desenvolvimento de programas educacionais/estágios para jovens da periferia; d) Incentivo à criação de espaços articulados para estudos, pesquisa e inovação, especialmente para os jovens das periferias; e) Conversão da tecnologia como fator de inclusão no mercado de trabalho e fomento para ocupações profissionais; f) Democratizar e aperfeiçoar o acesso e utilização da internet pelas novas gerações, mormente em relação às parcelas vulneráveis, como instrumento de interação em tempo real com as principais informações relacionadas às condições cotidianas para seu deslocamento, aqui incluídos alertas necessários quanto a condições climáticas inesperadas e que coloquem em risco a segurança dos cidadãos menos favorecidos; g) Desenvolvimento de espaços de lazer, multifuncionais (esportes, cultura, expressão artístico-literárias etc.); h) Articulação entre modais para deslocamento em áreas não atendidas e com facilitação em relação aos seus custos, pelas comunidades carentes; i) Estabelecimento de estratégias e ações coordenadas entre as estruturas públicas e privadas constitucionalmente competentes para a efetivação de políticas públicas de transporte coletivo e de saúde pública, especialmente diante de crises circunstanciais como a do Covid-19, especialmente para servir de modo seguro e eficiente às populações que se deslocam por longas horas diárias de seus lares até seus empregos, e vice-versa; j) Concepção das referidas políticas públicas sob uma perspectiva de gênero, diante do alto índice de assédios e violências de toda espécie que diariamente vitimam mulheres no Brasil durante a fruição dos serviços de transportes públicos9. Referido rol é, à evidência, meramente exemplificativo. Sem um conjunto de medidas de cunho socioeconômico ou de políticas públicas adequadas propriamente dito, a busca pela realização de um modelo urbano que possa ser entendido como paradigma das denominadas “smart cities” não passará de mera utopia ou, na melhor das hipóteses, tratar-se-á de benefício apenas restrito às camadas abastadas do país, fato já corriqueiro de 9
De 2018 para 2020, o índice de assédios sofridos por mulheres no transporte público subiu cerca de dezoito pontos percentuais. Sobre tais estatísticas, ver a pesquisa desenvolvida por “Viver em São Paulo – Mulher” sob o título “Relatos de assédio no transporte público aumentam 18 pontos percentuais em 2020 em SP, diz pesquisa”. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/04/ relatos-de-assedio-no-transporte-publico-aumentam-18-pontos-percentuais-em-2020-em-sp-diz-pesquisa.ghtml. Acesso em: 07.03.2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
273
nossa história e que atravanca o desenvolvimento nacional de modo real e efetivo. As dinâmicas para implantação das denominadas “cidades inteligentes”, com todas as vantagens e características que lançariam o país num cenário de futuro e de desenvolvimento real devem vir acompanhadas também de um processo de fortalecimento e refino da capacidade de politização e participação das populações (cidadania participativa) e, ainda, de cada cidadão em relação ao predomínio da tecnologia, informatização e domínio sobre dados que circulam com grande velocidade pelos bancos públicos e privados, sem qualquer controle por parte de seus titulares. Nesse sentido, interessante recordar que o termo “smart city” foi cunhado e registrado pela IBM em sua busca, como big tech, do predomínio das linguagens digitais sobre o espaço público. Origina-se, pois, do referido movimento tecnológico o risco de restrição e redução do espaço do cidadão enquanto ser politizado e participativo no processo de tomada de decisões relacionadas aos espaços urbanos. Nesse sentido10, [...] E, na origem, smart city é um termo não só cunhado, como registrado por uma grande empresa de tecnologia, a IBM. O início da discussão sobre cidades inteligentes está, portanto, atrelado a uma espécie de storytelling corporativo que culmina com a reorientação da estratégia de parte das big techs para construir o que seria o apogeu lógico da tecnologia no espaço urbano. [...]
A observação acima alerta para importante aspecto na busca pela conquista de espaços urbanos inteligentes: o risco da fragilização do processo democrático, atualmente já sob forte contestação, em vista da prevalência dos algoritmos. A questão é bem analisada por Evgeny Morozov e Francesca Bria em sua obra A Cidade Inteligente: Tecnologias Urbanas e Democracia (Ubu Editora), na qual os autores estabelecem observações críticas acerca da relação democracia-tecnologia no espaço urbano, entre as quais11: a) Privatização dos serviços públicos; b) Transferência das competências e instrumentos estatísticos ao setor privado; c) Submissão de dados pessoais às tecnologias não abertas; d) Posse dos dados relacionados aos transportes, moradia, valor da terra etc. por parte de empresas que deles disporiam, por meio de venda, quando assim lhes fosse conveniente; e) Ausência de controle público e no interesse da população, sobre as informações geradas pelos sistemas de um smart city. 10 11
TAVOLARI, Bianca. Utopias Inteligentes. Revista Quatro Cinco Um, p. 17. Março, 2020. TAVOLARI, Bianca. Utopias Inteligentes. Revista Quatro Cinco Um, p. 17. Março, 2020.
274
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A concepção e efetivação de cidades inteligentes, portanto, implica na necessidade do condicionamento de tal movimento e tendência à observância da necessidade de formação de cidadãos conscientes com sua responsabilidade no âmbito do espaço público, bem como à preservação de dados individuais e coletivos sob permanente controle da sociedade civil. O predomínio da tecnologia em idealizadas cidades inteligentes sem que a condição cidadã acima seja observada comprometerá o grau e a densidade da democracia. A ideia de cidades inteligentes concebidas sob algoritmos e programações digitais deverá ser voltada ao homem, e não aos sistemas. Como escreveu James Bridle em sua obra A Nova Idade das Trevas: A Tecnologia e o Fim do Futuro12, as infraestruturas atuais que dão suporte aos novos modelos de negócio são voltadas para as máquinas, e não para os seres-humanos, que dormem, comem, adoecem e envelhecem. A existência das smart cities parece ser um ideia boa, porém desde que sob controle e concebidas por cidadãos, para cidadãos, como instrumento de redução das desigualdades. Caso contrário, na hipótese de contribuir para a perda de consciência crítica dos referidos cidadãos sobre a própria existência e seus desafios, diante do predomínio avassalador de informações, fake news e de um sistema tecnológico que poderá absorver por completo o espaço público, aprofundará as desigualdades já existentes nas cidades e fragilizará profundamente a própria democracia. REFERÊNCIAS BRIDLE, James. A Nova Idade das Trevas: A Tecnologia e o Fim do Futuro. Tradução de Érico Assis. Editora Todavia, 2019. G1. Relatos de assédio no transporte público aumentam 18 pontos percentuais em 2020 em SP, diz pesquisa. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/04/relatos-de-assedio-no-transporte-publico-aumentam-18-pontos-percentuais-em-2020-em-sp-diz-pesquisa.ghtml. Acesso em: 07.03.2020. GOBBI, Leonardo Delfim. Urbanização Brasileira. Disponível em: http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-brasileira.html. Acesso em: 07.03.2020. IBGE-EDUCA. População Rural e Urbana. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/ populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html . Acesso em: 06.03.2020. NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 06.03.2020. O ESTADO DE SÃO PAULO - 1% dos donos de imóveis concentra 45% do valor imobiliário de São Paulo, 13.08.2016. Disponível em: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,1-dos-donos-de-imoveis-concentra-45-do-valor-imobiliario-de-sao-paulo,10000069287. Acesso em: 07.03.2020. OXFAM BRASIL. Mapa da Desigualdade 2017. Disponível em: https://oxfam.org.br/noticias/mapa-da-desigualdade-2017-revela-os-muitos-contrastes-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0agEn2O_ BKLkveCCw-qwXXVV9NZBwM6RuOYNoZRgjSawiigmIlehayRoCLZAQAvD_BwE. Acesso em: 07.03.2020. 12
BRIDLE, James. A Nova Idade das Trevas: A Tecnologia e o Fim do Futuro. Tradução de Érico Assis. Editora Todavia, 2019. Di.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
275
PEREIRA, Flávio de Leão Bastos. A Fundamentalidade do Direito à Mobilidade Urbana, p. 21. Obra coletiva Mobilidade Urbana – Desafios e Sustentabilidade. PIRES, Antonio Cecilio Moreira; PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira (Orgs). São Paulo: Ponto e Linha, 2016. Projeto Mackpesquisa. REDE NOSSA SÃO PAULO. Mapa da Desigualdade 2019. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org. br/2019/11/05/mapa-da-desigualdade-2019-e-lancado-em-sao-paulo/. Acesso em: 07.03.2020. SILVA, Elizângela Cardoso de Araújo. Povos indígenas e o direito à terra na realidade brasileira. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n133/0101-6628-sssoc-133-0480.pdf. Acesso em: 07.03.2020. TAVOLARI, Bianca. Utopias Inteligentes. Revista Quatro Cinco Um, p. 17. Março, 2020.
Capítulo 23 Desigualdade Urbana, Estado de Bem-Estar e Insatisfação Democrática Alessandro Soares
“O custo de vida dá laço sem nó Lembra a vó, ó, dá mó dó Criança na periferia vive sem estudo e só” Sabotage, “Canão foi tão bom”
INTRODUÇÃO As normas jurídicas são idealizações legais adotadas por um corpo legislativo cuja pretensão de eficácia tem o intuito de interferir na realidade sócio-histórica. O conteúdo de uma constituição ou de uma lei pode, por exemplo, incentivar a manutenção de um status quo ou requerer a sua modificação profunda2. Nesse sentido, a Constituição de 1988 propõe uma alteração das condições de vida de cidadãs e cidadãos brasileiros, ao determinar, em seu art. 3o, que são objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a qual seja capaz de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No entanto, a disposição constitucional referida anteriormente está em completa oposição com a realidade brasileira. Vivemos em um dos países mais desiguais e segregados do mundo. As nossas cidades materializam uma 1
2
A finalidade deste artigo é colocar ideias em movimento e lançar provocações para debate. Os pontos de vista e reflexões aqui elencados estão em constante construção e revelam inquietações pontuais de seu autor. Villegas, nesse sentido, fala de um constitucionalismo preservador como tendente à manutenção de um status quo e de um constitucionalismo aspiracional que teria a finalidade de alteração da realidade. VILLEGAS, Mauricio García. Constitucionalismo aspiracional. Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, v. 15, n. 29, p. 81, 2013. Disponível em: https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/1990/1841. Acesso em: 24 fev. 2020.
278
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
topografia de exceção, nas quais certas regiões vivem sob o signo da violência, perpetrada tanto pelo crime organizado quanto pelo Estado. O racismo, o preconceito regional e o machismo são traços que nos caracterizam culturalmente e podem ser notados em todas as formas de tratamento e convívio social; afinal, de onde viria a frase “Ela é negra, mas é bonita”? Ou “Baiano é preguiçoso”? Quantos de nós já não ouviram frases desse tipo? Cada um desses comentários reflete um universo hostil ao qual somos expostos desde muito cedo3. A imaginação deve pressupor que a alteração substancial do status quo nacional envolve a implementação de políticas públicas que se guiem nessa direção. O desejo constitucional é uma vontade de ação concreta rumo à configuração de um Estado social ou de bem-estar. Se pensamos em termos de cidades e serviços, fica claro que a melhoria gradual na prestação dos serviços públicos é fundamental para a conquista da metanarrativa traçada na Lei Maior. Em âmbito infraconstitucional, por exemplo, a Lei n. 8.987/1995, art. 6º, absorve essa perspectiva, sobretudo ao ditar que a cidadania tem direito a receber um serviço público adequado aos seus anseios. A lei, de fato, afirma que o serviço adequado seria aquele que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. A noção de serviço púbico adequado estampada na lei nos fornece elementos e caracteres daquilo que podemos chamar de “cidade ideal”. A própria lei adota o termo “satisfação” como representação daquilo que sente a cidadania ao receber serviços universais, de qualidade e acessíveis. O passo seguinte a esse raciocínio é pensar que a satisfação material proporcionada pelos serviços ofertados gera quase imediatamente a satisfação política e democrática na sociedade, na medida em que estamos diante de uma situação de melhora generalizada das condições de vida. É nesse ponto que convém alertar para uma questão-chave quando falamos de problemas urbanos. As cidades idealizadas são construções tão perfeitas que espelham uma igualdade perturbadora para qualquer cidade concreta. Podemos nos referir aqui a uma diferenciação entre cidade moralmente desejada, que diz respeito a um ideal de urbe, e de cidade concretamente desejada, que leva em consideração os interesses de cada indivíduo, grupo e classe social e está conectada com o modo como a cidade se reproduz, materializando um espaço de poder e domínio. No plano do primeiro modelo, tudo aquilo que consubstancia a implementação de uma 3
E Lassalle nos ensina que a cultura é um dos fatores reais de poder, a qual é capaz de compor a essência da constituição de um país. Uma constituição que albergue muitas diretrizes de direitos humanos, como nossa Carta de 1988, terá que lidar com a resistência à sua eficácia. LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? Traducción de Wenceslao Roces. Barcelona: Ariel, 2012, p. 77.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
279
política de bem-estar está erigido sob a concepção de que a segregação social, a desigualdade e a pobreza são fatos negativos em qualquer urbe e que todos querem enfrentar esse problema4. Todavia, esses fenômenos indesejáveis constituem a base concreta de nossas cidades (como elas efetivamente se materializam) e alimentam uma cultura que se opõe completamente aos resultados almejados pela introdução de políticas de bem-estar. Assim, as noções de cidade moralmente desejada e concretamente desejada devem conviver no mesmo sujeito e gerar atritos, motivo pelo qual é necessário solucionar essa contradição interna. Como alguém pode reclamar da pobreza e da desigualdade das nossas cidades e, ao mesmo tempo, ser contra a implementação de políticas de bem-estar que tendam a reduzir esse problema? Duas respostas aqui são típicas. A primeira trilha o seguinte caminho: não são as políticas públicas coletivistas e de bem-estar que acabarão com a pobreza e a desigualdade, mas, sim, aquelas capazes de gerar oportunidades individuais. Nomearemos esse argumento de “meritocrático individualista” ou “liberal”. A segunda resposta afirma que as políticas de bem-estar social adotadas por outras nações (Finlândia, Suécia e Dinamarca, por exemplo – países com melhores índices de igualdade) não são para o Brasil, pois não temos as mesmas condições, somos diferentes. Chamo essa última posição de “argumento da brutalidade” (ou de “exceção”). Em todo caso, a resultante final dessas visões é sempre a mesma: manutenção do status quo de domínio, resistência à Constituição. Impende identificar de que modo a melhoria dos serviços públicos, o aumento de renda e a redução da desigualdade e da pobreza têm o potencial de gerar tensões de grande magnitude, seja alimentando insatisfações em determinados agrupamentos sociais ou abrindo a porta para conflitos políticos. A seguir, ao tomar como exemplo a cidade de São Paulo, vamos realizar uma experimentação e imaginar como esse processo pode ocorrer. O município de São Paulo ocupa uma ampla extensão territorial5, e a maioria dos serviços públicos de qualidade e infraestrutura urbana se concentra em determinadas regiões que seguem a linha do centro da cidade em direção 4
5
Naturalmente, há pessoas que ressaltam a importância da desigualdade; afinal, alguém tem que fazer os serviços que a elite não quer (doméstica, babá, porteiro etc.) − por isso, ainda seguindo esse raciocínio, a universalização do ensino superior não deveria ser garantida pelo Estado, ou seja, não deveria ser um direito de todos. Consoante Santos, “Um dos traços dominantes da geografia paulistana é, pois, a enorme extensão da cidade e o ritmo crescentemente rápido com que, desde fins do século passado, expande-se a aglomeração. Considera-se que, entre 1950 e 1980, a área urbana cresceu nove vezes, enquanto a população se multiplicou 4,5 vezes. (...) Os indicadores de crescimento territorial chamam ainda mais atenção quando comparados com o que se verifica em países da Europa. Veja-se, por contraste, o caso da Espanha, mencionado por Jacinto Rodriguez Osuna, onde as principais cidades teriam mantido os mesmos limites externos por meio século, entre 1900 e 1950, e somente algumas os ampliam de mais de 10 km entre 1950 e 1975”. SANTOS, Milton. Metrópole corporativa fragmentada. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2009, p. 22-23.
280
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
ao vetor sudoeste (localidades como Higienópolis, Cerqueira César, Itaim Bibi, Pinheiros, Jardins e Morumbi)6. Trata-se de áreas de alta concentração de elites quando comparadas ao resto da cidade. Em sentido oposto, as periferias sempre foram zonas de escassez de serviços e infraestrutura, representando uma opção de moradia para famílias pobres e de baixa renda, em razão do preço da terra e do aluguel mais acessível, bem como da ausência de fiscalização urbanística7. A realidade vivenciada nas periferias de São Paulo garante a oferta de mão de obra barata, particularmente para o setor de serviços da cidade, que é, por sua vez, uma das bases de sustentação dos moradores das zonas nobres8. Com 6
7
8
Villaça aponta essa dinâmica: “Quanto à classe média, a simples observação dos bairros que aparece nos mapas da cidade no início do século – Vila Mariana, Vila Clementino, Ipiranga, Perdizes, Cerqueira César, Água Branca, Vila Romana etc. – indica que a maior parte dessa classe também estava a oeste da cidade. Finalmente a oeste depois a sudoeste, surgiram os primeiros bairros exclusivos da aristocracia paulistana: Campos Elíseos, Higienópolis e avenida Paulista. A localização desses bairros pioneiros definiu a tendência que, como veremos adiante, se mantém até hoje, quando a alta burguesia atinge Aldeia da Serra, os vários Alphavilles, Granja Viana e Itapecerica da Serra, já fora do município de São Paulo”. VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP, 2017, p. 118. Esse vetor de movimentação das elites na cidade acaba por concentrar investimentos públicos em um processo que retroalimenta de maneira contínua a desigualdade e a segregação. Maricato nota que: “A gestão Paulo Salim Maluf na prefeitura de São Paulo (1993/1996) foi exemplar nesse sentido. A maior parte das megaobras destinadas a ampliar o espaço de circulação de veículos concentrou-se especialmente na região Sudoeste do município. Essa região forma uma mancha contínua de moradores de alta renda. Em 11 obras viárias a prefeitura gastou (ou deixou como dívida) a fantástica quantia de aproximadamente R$ 7 bilhões”. MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia (Orgs.). A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 158. Note-se uma visão geral desse processo: “A paisagem urbana metropolitana refletirá assim a segregação espacial fruto de uma distribuição de renda estabelecida no processo de produção. Tal segregação aparece no acesso a determinados serviços, à infraestrutura, enfim aos meios de consumo coletivo”. CARLOS, Ana Fani A. A cidade. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 54. No início de fevereiro de 2020, chuvas intensas caíram em São Paulo, impedindo a locomoção de milhares de pessoas até o trabalho. Essa situação afetou todo o setor de serviços da região central da cidade − pela manhã, por exemplo, os shoppings mal conseguiam abrir as portas por falta de seguranças, vendedores, limpadores etc. Na época, Vinicius Torres Freire assinou uma matéria no jornal Folha de S.Paulo com a seguinte chamada: “Centro rico de SP ficou ilhado e vazio em mais um dia de desastre ambiental”. O grau de dependência dos serviços dessa região parece demonstrado na narrativa da matéria, pois “era possível ir de Higienópolis até o Clube Pinheiros em 15 minutos, bem na hora do ‘rush’ do almoço e da troca de turno das escolas, um percurso que em dias normais não muito ruins leva pelo menos 35 minutos. Parecia feriado. Era cilada. O centro expandido paulistano ficou ilhado. Pouca gente entrava, pouca gente saía. Era possível passar rápido por avenidas como Angélica, Rebouças, Brasil, Faria Lima, Nove de Julho e Consolação, em geral entupidas. Os alagamentos das margens dos rios fecharam as portas da região mais rica da cidade (para quem é de fora: travaram as avenidas-estradas que circundam São Paulo). Também muitas escolas fecharam, pelo menos de manhã, por precaução, por falta de funcionários, porque o entorno estava intransitável ou porque seus prédios alagaram. De resto, muita gente ficou em casa porque desde cedo a prefeitura fazia alertas de desastre e apelos para que ninguém saísse. (...) Uma funcionária de uma lanchonete do Baixo Augusta (quase Centro) contava como chegou ao trabalho. Vinha de ônibus da Vila Nova Cachoeirinha (extremo norte). Teve de descer
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
281
isso, queremos dizer que há uma funcionalidade na pobreza e na desigualdade urbana, visto que estas servem de alicerce para uma estrutura social segregacionista. As noções de centro e periferia revelam, portanto, uma relação9. Se uma família vive em uma moradia precária, perto de um córrego, com ausência de saneamento, falta de escolas, hospitais, transporte e iluminação pública, a sua condição material de existência cai juntamente com o custo de vida10. Resulta disso que o salário para a manutenção de alguém nessas condições poderá ser mínimo, apenas o suficiente para uma subsistência pouco digna que garanta a sua reprodução como força de trabalho. A existência em larga escala de trabalho doméstico no País se explica em parte por essa circunstância. O Brasil ostenta o título de nação com a maior quantidade de empregadas domésticas do mundo: são praticamente 7 milhões11, o que equivale a ter um número de trabalhadoras domésticas igual à população da Dinamarca. Não surpreende que a arquitetura dos edifícios nas regiões de maior renda da cidade de São Paulo termine por expressar uma cultura de exercício de poder e domínio arcaico. O padrão de construção estabelecido sempre indicou a obrigatoriedade de entradas de serviços e quartos de empregada confinados, inclusive em apartamentos pequenos12. A gênese desse
9
10
11
12
na Marginal, com trânsito parado. Andou sob chuva da ponte do Piqueri até a Lapa de Baixo (2 km) e pegou um táxi de aplicativo, sem saber se seria ressarcida. ‘As empregadas faltaram’ era uma conversa comum dos ricos. Não havia trens, parados por causa do mar de imundície excrementícia e tóxica que transbordou dos nossos rios nojentos”. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ 2020/02/centro-rico-ficou-ilhado-e-vazio-em-mais-um-dia-de-desastre-ambiental.shtml. Acesso em: 23 fev. 2020. [Grifo nosso]. O conceito esquemático de economia periférica e economia central foi adotado por Cardoso e Faletto ao tratar do tema do desenvolvimento na América Latina. A preferência por trabalhar com essas terminologias, em detrimento, por exemplo, às noções desenvolvimento e subdesenvolvimento, deu-se na medida em que nelas “pode-se incorporar de imediato a noção de desigualdade de posições e de funções de uma mesma estrutura de produção global”. CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Ensaio de interpretação sociológica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1970, p. 26-27. Tomando essas ideias como ponto de partida, poderíamos falar, portanto, de centro e periferia urbana como reflexo de uma desigualdade de posições e funções dentro de uma mesma estrutura de cidade. Carolina Maria de Jesus, ao nos relatar o seu cotidiano em uma das comunidades mais antigas de São Paulo na década de 1950, não deixa espaço para dúvidas, pois, mesmo sobrevivendo na miséria, o custo de vida deve aparecer como um monstro a devorar tudo: “15 de julho de 1955 − Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar”. JESUS, Carolina Maria. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10. ed. São Paulo: Ática, 2014, p. 11. Sob essa condição, os salários podem ser rebaixados a ponto de parecer uma bondade de quem emprega. O Brasil é o país com maior número de empregadas domésticas do mundo. Ver WENTZEL, Marina. O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo. BBC Brasil, 26 fev. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43120953. Acesso em: 12 fev. 2020. O curta-metragem brasileiro “Recife frio” (2009), dirigido por Kleber Mendonça Filho, faz referência ao confinamento dos cômodos de empregadas nos apartamentos de Recife. Quando a temperatura da cidade
282
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
cômodo é explicitada em nota de Gilberto Freyre e não deixa dúvida: “Ainda na primeira metade do século XIX começam a aparecer nos jornais brasileiros anúncios de ‘casas de sobrado’ não mais com senzalas, porém com ‘casas para pretos’ ou ‘quartos para creados ou escravos’ ou ‘dependências’”13. Importa sublinhar que somente em uma situação de total penúria e fragilidade alguém se submete a habitar um lócus familiar que não o seu, confundindo a sua vida particular com o trabalho contínuo de servir. Não é raro entre as elites paulistanas encontrarmos quem afirme que a sua empregada doméstica é “quase alguém da família”. Em alguns núcleos familiares de classe média, a doméstica e a babá são “herdadas” de mãe para filhos em regime de total normalidade14, do mesmo modo que se pode herdar um carro ou qualquer outro objeto. A simulação de um vínculo afetivo procura camuflar um estatuto de superexploração da mão de obra. O empregador, nesse caso, se vê como um benfeitor, um patrão, alguém que “dá emprego” a quem necessita15. A relação de emprego parece mais um favor do que uma contratação de tipo liberal. Devemos notar que não é somente dos serviços domésticos que vive uma parte da elite do município de São Paulo. Estamos falando aqui de um verdadeiro exército de trabalhadoras e trabalhadores: entregadores (agora com o uso de aplicativos), seguranças, motoristas, porteiros, atendentes, balconistas,
13
14
15
cai, o quarto confinado da empregada torna-se o mais aconchegante, já que é o mais quente, passando a ser cobiçado pela família. Se entendermos em sentido contrário, vemos que Recife é uma cidade quente do Nordeste; logo, o confinamento em um cômodo implica sofrimento com o calor. FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. t. 1, p. 234-235. A normalização e a padronização de uma relação social de domínio conduzem à regra. A exceção é a eliminação desse estado de normalização que se torna socialmente legitimado. Benjamin, quando determina o seu conceito de “estado de exceção”, parece dialogar com essa questão. Diz Benjamin em sua Tese VIII, Sobre o conceito de história, que “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ (‘Ausnahmezustand’) em que vivemos é a regra. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esse ensinamento. Perceberemos, assim, que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; e com isso nossa posição ficará melhor na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerando como uma norma histórica. – O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ‘ainda’ sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história em que se origina é insustentável”. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 145. Victor Nunes Leal ressalta esse tipo de situação no ambiente rural ao abordar o tema das relações entre o trabalhador e morador do campo ultraempobrecido e os senhores de terra sob o regime coronelista no Brasil, cuja vigência teria se mantido até meados do século XX. Diz o autor: “Ali o binômio ainda é geralmente representado pelo senhor da terra e seus dependentes. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele, na verdade, que recebe os únicos favores que sua obscura existência conhece”. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 47.
283
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
vendedores de rua, manobristas, frentistas, serventes de pedreiro etc. O preço dessa mão de obra se reduz na medida em que o seu custo de vida e condições materiais de existência cai. Em última instância, isso significa que, quanto mais difícil é a vida dessas pessoas, menor será o preço do trabalho para as classes médias e altas da cidade17. Ao utilizar-se dos mais diversos serviços disponíveis na cidade, a elite acumula tempo para adquirir cultura, educação, experiências em viagens, lazer e descanso, reproduzindo o seu próprio domínio intelectual. A sua preocupação constante com a cotação do dólar e a sua compulsão por aplicativos de aluguel de imóveis e viagens (Airbnb e Booking. com) revela um processo de alta concentração de renda e uma cultura individualista difícil de quebrar. Diante desse cenário simplificado – que procura expressar aspectos essenciais de uma cidade concreta periférica – é que devemos imaginar a vigência das normas jurídicas, das idealizações legislativas e das utopias constitucionais. A 16
16
17
Oliveira identifica o tamanho do setor de serviços no ambiente urbano como parte do desenvolvimento capitalista no Brasil: “A hipótese que se assume aqui é radicalmente distinta: o crescimento do Terciário, na forma como se dá, absorvendo crescentemente a força de trabalho, tanto em termos absolutos como relativos, faz parte do modo de acumulação urbano adequado à expansão do sistema capitalista no Brasil; não se está em presença de nenhuma ‘inchação’, nem de nenhum segmento ‘marginal’ da economia. (...) é que a aparência de ‘inchação’ esconde um mecanismo fundamental da acumulação: os serviços realizados à base de pura força de trabalho, que é remunerada a níveis baixíssimos, transferem, permanentemente, para as atividades econômicas de corte capitalista, uma fração do seu valor, ‘mais-valia’ em síntese. Não é estranha a simbiose entre a ‘moderna’ agricultura de frutas, hortaliças e outros produtos de granja com o comércio ambulante? Qual é o volume de comércio de certos produtos industrializados – o grifo é proposital – tais como lâminas de barbear, pentes, produtos de limpeza, instrumentos de corte, e um sem-número de pequenos objetos, que é realizado pelo comércio ambulante das ruas centrais de nossas cidades? Qual é a relação que existe entre o aumento da frota de veículos particulares em circulação e os serviços de lavagem de automóveis realizados braçalmente?”. OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 56-58. Em um bairro nobre de São Paulo, o Morumbi, edifícios de luxo devem conviver com favelas. A partir da década de 1950, a comunidade de Paraisópolis aloca uma parte da mão de obra utilizada na construção dos prédios de apartamentos de elite do bairro. Morar na favela se traduz em precariedade e baixo custo da moradia. Assim, os salários pagos pelas construtoras podem ser rebaixados acompanhando o rebaixamento da vida das trabalhadoras e trabalhadores. As famílias da elite compram apartamentos a custos melhores, bem como as empresas que trabalham no setor otimizam o seu lucro. Naturalmente, após muitas moradias estarem prontas, é hora de retirar os moradores da favela para que o processo de especulação continue o seu caminho espoliativo, inclusive demandando novos recursos públicos. É acionado, nesse caso, todos os tipos de mecanismos jurídicos e políticos para a retirada dos indesejados, podendo facilmente se chegar a estratégias de violência. Ao mesmo tempo, parte dessas trabalhadoras e trabalhadores deve servir nos apartamentos da nobreza paulistana como babás, empregadas, porteiros etc. Carolina Maria de Jesus, em um comentário mordaz, expõe parte desse processo de materialização da cidade ao explicar por que deu ao seu livro o título Quarto de despejo: “É que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos”. JESUS, Carolina Maria. Quarto de despejo: diário de uma favelada, cit., p. 195.
284
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
aplicação total (efetividade) e com plena eficácia do art. 6º da Lei n. 8.987/1995 acarretaria modificações importantes no processo de reprodução da cidade. Afinal, o que ocorreria se em toda São Paulo houvesse uma melhora generalizada dos serviços públicos e da infraestrutura urbana? Se fosse oferecido transporte público, saúde e educação de qualidade? Se na cidade toda tivéssemos um programa de construção de praças, creches, centros poliesportivos e parques para as famílias? Se fosse garantido o acesso à moradia digna? Se todas as filhas e filhos das empregadas domésticas tivessem acesso garantido ao ensino superior? E se todas essas políticas pudessem ser postas em marcha a partir do aumento salarial possibilitado por um crescimento econômico? Muito provavelmente, nessa hipótese extrema, as classes altas e médias, em especial estas últimas, sentiriam-se ameaçadas em seu status de domínio. Um sentimento de insatisfação democrática poderia se abater sobre o seu semblante, juntamente com uma percepção de deterioração da vida. O aumento do custo dos serviços (inflação)18 produzido nessa situação geraria descontentamento generalizado19. O quarto de empregada seria inutilizado, transformado em armário de roupas (closet – nova funcionalidade), e a empregada doméstica passaria a ser uma trabalhadora contratada sob regime da legislação trabalhista ou em diarista. Uma sociedade mais justa seria, aos seus olhos, algo “injusto”. Assumir diretamente as tarefas de lavar o próprio carro, cuidar dos filhos, preparar o café da manhã, lavar e passar roupa, utilizar transporte público, limpar a casa, reduzir o número de viagens etc. é interpretado, em última instância, como uma queda social. Qualquer estrato inferior da sociedade representaria uma ameaça espiritual ao modo de vida da classe média. 18
19
Parece ser isso exatamente o que ocorre a partir de meados dos anos 2000 no Brasil. A maior distribuição de renda gera aumento no preço dos serviços que impacta diretamente a classe média. Nesse sentido, Laura Carvalho nota: “Em particular, os preços nos setores de alimentação fora de casa (restaurantes) e serviços pessoais (lavanderias, cabelereiros, tratamentos de beleza, entre outros) cresceram a um ritmo próximo do dobro do IPCA durante a segunda metade dos anos 2000. Esse tipo de inflação, causado por ganhos salariais de certas categorias de trabalhadores, foi sentido sobretudo pelos trabalhadores cujos salários cresciam menos − aqueles que se encontravam no meio da pirâmide. Não à toa, são essas as classes sociais que começam a queixar-se do encarecimento do trabalho doméstico, dos cabelereiros, da construção civil”. CARVALHO, Laura. Valsa brasileira: do boom ao caos econômico. São Paulo: Todavia, 2018, p. 46-47. Em verdade, isso não necessariamente ocorre em todos os contextos imagináveis. Laura Carvalho argumenta que uma melhor oferta de serviços públicos pode impedir que um processo inflacionário de serviços seja repassado à classe média. “Além disso, o alívio do conflito distributivo e das pressões inflacionárias pode se dar por meio de melhorias nos serviços públicos. O transporte público melhor e mais barato ou a saúde pública de qualidade, por exemplo, elevam o poder de compra dos trabalhadores sem a necessidade de aumentar tanto os salários nominais. O mesmo vale para a oferta de moradia. Nem toda inclusão precisa se dar via renda: as desigualdades também são combatidas quando a população tem acesso a melhores serviços públicos”. CARVALHO, Laura. Valsa brasileira: do boom ao caos econômico, cit., p. 49.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
285
Para muitos beneficiados, com a ampliação dos serviços e da infraestrutura urbana, além da melhor distribuição de renda e do aumento de salários, a situação pode não ser de pura satisfação, mas de um processo em que há maior expectativa em se manter o que foi ganho e se buscar mais. Não raro, eles sentem a melhoria geral da vida como fruto de um esforço pessoal, quase puramente individual. Espelham-se na classe média tradicional e assumem um discurso meritocrático que tem pouca relação com a reprodução da cidade. A lógica do consumo individual e do mérito se sobrepõe à política e à noção de cidadania. Se nessa circunstância ocorre qualquer instabilidade econômica, os seus medos e insegurança se aguçam, e uma insatisfação e ansiedade generalizadas tornam-se inevitáveis20. Ao fazer uma análise da totalidade do contexto apresentado anteriormente e adicionar a ele o ingrediente da crise econômica, isto é, da redução da renda, do emprego e do consumo, temos no mínimo um elemento essencial para a configuração de um cenário populista no sentido atribuído por Laclau: um sentimento de frustração em razão de demandas insatisfeitas que podem entrar em relação de equivalência com muitas outras a ponto de conformar uma identidade popular comum21. Nesse contexto, não será nenhuma surpresa o surgimento de movimentos políticos com base no discurso de ódio contra minorias (racismo, homofobia, violência contra mulheres etc.). Uma reação deve ser sempre esperada. 20
21
Os anos 2000 trouxeram um aumento de renda e redução da pobreza na América Latina. Muitos autores começaram a falar da existência de uma nova classe média que teria surgido nesse período. A precariedade da posição desses grupos sociais parece confirmar nossa hipótese de que a crise econômica sempre se coloca como uma ameaça ao seu status recém-adquirido. “Si los primeros trabajos sobre las nuevas clases medias resaltaban los múltiples beneficios que podía traer su expansión en términos económicos, sociales y políticos, más recientemente se ha enfatizado su gran fragilidad. Las nuevas clases medias son heterogéneas en cuanto a su situación económica. Una parte importante está en situación de vulnerabilidad. Su posición económica es muy inestable, sobre todo debido a la alta incidencia de ocupaciones precarias o informales. Esto incrementa el riesgo de que las mejoras que experimentaron durante el periodo no sean permanentes. Pueden haber ampliado su capacidad de consumo durante un ciclo favorable, pero en contextos contractivos, como los que atraviesan actualmente varios países de la región, tienen muy altas probabilidades de perder posiciones y caer en la pobreza.” BENZA, Gabriela; KESSLER, Gabriel. Nuevas clases medias: acercar la lupa. Nueva Sociedad, n. 285, p. 62, enero-feb. 2020. Diz Laclau “... la presencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. Si grupos de gente cuyas demandas de vivienda, por ejemplo, no son satisfechas advierten que otras demandas de transporte, empleo, seguridad, suministro de bienes públicos esenciales, no son tampoco satisfechas, en tal caso comienza a establecerse entre ellas una relación de equivalencia. Todas ellas empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una identidad popular común que está dada por la falla de su satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema institucional existente. Esta pluralidad de demandas comienza entonces a plasmarse en símbolos comunes y, en un cierto momento, algunos líderes comienzan a interpelar a estas masas frustradas por fuera del sistema vigente y contra él. Éste es el momento en que el populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de identificación popular”. LACLAU, Ernesto. La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Nueva Sociedad, n. 205, p. 57-58, sept.-oct. 2006.
286
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
JUSTIFICATIVA PARA A AÇÃO NO PROBLEMA O conteúdo que expusemos anteriormente tem um caráter provocativo e de experimentação, buscando ilustrar e chamar atenção para a dimensão concreta da cidade em países periféricos e o grau de complexidade de seus problemas. Ao refletir sobre a implementação de políticas públicas a partir de leituras normativas, deve-se ter em mente as relações reais de poder que envolvem o meio urbano. O enfrentamento da pobreza, da desigualdade e a luta pelo bem-estar geral é um desejo puramente abstrato com o qual todos podem concordar em tese. No entanto, a introdução de políticas públicas que caminhem nesse sentido constitui a causa de conflitos entre agrupamentos socais, pois que acaba por tocar nas condições de reprodução da cidade desigual e segregada, como são as maiorias dos grandes centros urbanos latino-americanos. Se há o mínimo de razoabilidade em tudo o que foi dito até aqui, é fundamental que as decisões relativas à criação e implementação de políticas públicas sejam pensadas de maneira estratégica e de modo a gerar impactos modulados sobre a cidade. Isso significa também a obrigatoriedade de um enfrentamento ideológico e cultural. Não se trata, evidentemente, de tarefa simples. Para as instituições e autoridades que devem interpretar as normas em sua aplicação, particularmente o Poder Judiciário, faz-se necessário que estas procurem bloquear legislações e políticas públicas que alimentam a segregação e a desigualdade, uma vez que isso representa ofensa aos objetivos fundamentais da República, consoante sedimentado no art. 3º da CF. O norte constitucional é a redução da desigualdade e a eliminação da pobreza. Isso, contudo, somente pode ser feito a partir de uma compreensão do processo de reprodução da cidade, conforme buscamos mostrar neste artigo. CONCLUSÃO Não existe nenhuma política pública que não produza efeitos colaterais na cidade e, nesse sentido, “cada solução se impõe como um problema”22. Entretanto, se podemos imaginar um conjunto de medidas a serem tomadas para se tentar criar uma cidade humana, solidária e igualitária, o problema essencial está na dinâmica política. Quando Harvey propõe que é preciso lutar pelo direito à cidade, afirma que isso “equivale a reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de maneira radical e fundamental”23. Cidades 22 23
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Edusp, 2013, p. 125. HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 30.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
287
segregadas, fragmentadas e desiguais da América Latina só se constituíram dessa forma a partir de dinâmicas decisórias não democráticas, alicerçadas na exclusão e na limitação política. A união dos poderes econômicos, políticos e sociais monopolizados por parcelas de elites determinou o perfil de nossas cidades. Nessa ordem de ideias, é preciso romper esse ciclo vicioso e indicar um caminho de ampliação participativa e de democratização das cidades. Trata-se de uma tarefa para todos os dias: mudar a correlação de forças em direção a uma outra cidade. Uma cidade possível. REFERÊNCIAS BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012. BENZA, Gabriela; KESSLER, Gabriel. Nuevas clases medias: acercar la lupa. Nueva Sociedad, n. 285, p. 60-71, enero-feb. 2020. CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Ensaio de interpretação sociológica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1970. CARLOS, Ana Fani A. A cidade. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2015. CARVALHO, Laura. Valsa brasileira: do boom ao caos econômico. São Paulo: Todavia, 2018. FREIRE, Vinicius Torres. Centro rico de SP ficou ilhado e vazio em mais um dia de desastre ambiental. Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 fev. 2020. Folha Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/centro-rico-ficou-ilhado-e-vazio-em-mais-um-dia-de-desastre-ambiental.shtml. Acesso em: 23 fev. 2020. FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. t. 1. HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014. JESUS, Carolina Maria. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10. ed. São Paulo: Ática, 2014. LACLAU, Ernesto. La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Nueva Sociedad, n. 205, p. 57-58, sept.-oct. 2006. LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? Traducción de Wenceslao Roces. Barcelona: Ariel, 2012. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 47. MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia (Orgs.). A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2006. SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Edusp, 2013. SANTOS, Milton. Metrópole corporativa fragmentada. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2009. VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP, 2017. VILLEGAS, Mauricio García. Constitucionalismo aspiracional. Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, v. 15, n. 29, p. 77-87, 2013. Disponível em: https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/1990/1841. Acesso em: 24 fev. 2020. WENTZEL, Marina. O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo. BBC Brasil, 26 fev. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43120953. Acesso em: 12 fev. 2020.
Capítulo 24 Catalisando Transformações Urbanas por Meio de Dados – A Atuação do ONU-Habitat em Maceió, Alagoas Jônatas Ribeiro de Paula
INTRODUÇÃO Como apoiar projetos de governos locais para que boas ideias possam ter maior impacto na vida de populações vulneráveis? Essa é a questão norteadora do presente artigo, cujo objetivo é apresentar os desafios de atuação do Governo do Estado de Alagoas na promoção de melhorias de assentamentos precários na capital Maceió e os resultados de uma cooperação em nível internacional com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). Desde 2017, a parceria tem focado na produção de dados espaciais urbanos qualificados como estratégia de qualificação da tomada de decisões e como ferramenta de promoção da Agenda 20301 para o Desenvolvimento Sustentável em Maceió. JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO NO PROBLEMA Maceió, capital do estado de Alagoas, abriga pouco mais de um milhão de habitantes, um terço da população do estado. O baixo desempenho de alguns dos seus indicadores socioeconômicos se destaca em comparação a outras capitais, apontando uma série de problemas relacionados à desigualdade, pobreza e vulnerabilidade social de sua população. Maceió tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (0,721)2 e a mais alta taxa de extrema pobreza 1
2
A Agenda 2030 foi adotada em 2015 por 193 países no âmbito da Organização das Nações Unidas. Por meio do documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), a agenda estabelece um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, os quais buscam fortalecer a paz universal e erradicar a pobreza extrema em todas as suas formas, em todos os lugares. Para conhecer melhor a Agenda 2030 e os ODS, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030. PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/maceio_al. Acesso em: 20 nov. 2018.
290
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
(8%) entre todas as capitais brasileira . A taxa geral de desemprego na cidade é de 16,8% e de 38,1% entre jovens de 15 a 24 anos4. Cerca de 12% da população vive em aglomerados subnormais5 e apenas 44,61% do esgoto é tratado6. Nesse contexto de vulnerabilidade social, investimentos públicos feitos de maneira transversal, abordando diversos temas de políticas públicas de forma consciente das necessidades específicas de cada grupo demográfico e da diversidade dos indivíduos, têm melhores condições de elevar o padrão de vida daqueles que mais precisam. Dado que no Brasil o processo histórico de urbanização desigual segregou a população mais desfavorecida em assentamentos precários, onde a infraestrutura pública e demais serviços urbanos são escassos, dar um enfoque territorial para esses investimentos tem o potencial de criar uma plataforma estratégica para essa abordagem transversal. Em outras palavras, políticas públicas focadas nas particularidades dos territórios mais precários em termos de serviços urbanos têm mais chances de atender as populações mais vulneráveis que aquelas que ignorem esse aspecto espacial. Nesse sentido, o Programa “Vida Nova nas Grotas” implementado pelo Governo do Estado de Alagoas carrega um enorme potencial de proporcionar melhoras significativas nos indicadores urbanos da cidade. 3
As grotas de Maceió e o programa Vida Nova nas Grotas Como no Rio de Janeiro – onde “morro” popularmente designa tanto o acidente geográfico, quanto o assentamento precário que o ocupa –, “grota” é o termo popularmente utilizado em Maceió para as favelas localizadas nas formações geográficas características da geomorfologia da cidade. As grotas de Maceió são ravinas ou vales sinuosos que cortam todo o território das cotas mais altas do município – o chamado “tabuleiro” – e que funcionam como calhas naturais de escoamento de águas pluviais que caem nessa região e seguem para a planície litorânea e lagunar localizadas nas cotas mais baixas da cidade. Por terem esse papel ambiental fundamental, constituem-se como territórios sensíveis e estratégicos para a cidade. Como apontado acima, a urbanização desigual brasileira relegou aos mais pobres os territórios mais precários; no 3
4
6 5
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais 2018 – Rendimento, Outras medidas de pobreza, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9221-sintesede-indicadores-sociais.html?edicao=25875&t=resultados. Acesso em: 30. jan. 2020. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Op. cit. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Op. cit. SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. IN046_AE – Índice de esgoto tratado referido à água consumida, 2018. Disponível em: http://app3.cidades.gov.br/serieHistorica. Acesso em: 30 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
291
caso de Maceió, as grotas foram esses territórios historicamente preteridos pelo mercado imobiliário formal e pelos investimentos do estado e, por isso, terminaram por abrigar a população mais pobre e parte das favelas da cidade. São territórios íngremes cujos moradores sofrem de enormes dificuldades de acessibilidade e mobilidade, além de estarem sujeitos a constantes deslizamentos e inundações, à falta de saneamento básico e a uma precariedade habitacional geral. Essas vulnerabilidades que sujeitam a população residente das grotas a inúmeros riscos advêm não apenas da invisibilização resultante das características geomorfológicas das grotas, como também da ausência de qualquer política urbana nesses territórios7. A proposta do programa “Vida Nova nas Grotas” (VNG), concebido e implementado desde 2016 pelo Governo do Estado de Alagoas, é de constituir-se como uma plataforma de ações dos órgãos do governo estadual para levar políticas públicas de diversos setores para essa população. Atualmente, as obras de intervenção na infraestrutura de mobilidade, acessibilidade e de melhoria habitacional foram as que mais avançaram. Até final de 2019, aproximadamente 50 das 100 grotas já tiveram obras de melhoria da acessibilidade – passeios, escadarias, pontes, corrimões, drenagem, pequenas praças e outros – entregues ou iniciadas e 127 casas já receberam ou estão tendo obras de melhoria habitacional8. Atualmente, o Governo do Estado planeja levar essas intervenções de melhoria da mobilidade e acessibilidade a todas as grotas e aumentar o número de casas atendidas pelos projetos de melhoria habitacional. Essas obras visam especialmente melhorar o deslocamento dos moradores e o acesso de serviços públicos e privados a esses assentamentos – promovendo sua integração espacial com o entorno e o restante da cidade – e melhorar as condições de habitabilidade das moradias. Por fim, diversas outras ações também têm sido feitas, buscando levar serviços públicos básicos, incluindo: ações de capacitação e fomento ao empreendedorismo, concessão de microcrédito, educação ambiental, atividades de esporte e lazer, oficinas de prevenção ao uso de drogas, entre outras. As obras de infraestrutura proporcionaram melhora substantiva na qualidade de vida dos moradores, especialmente nas condições de acesso e mobilidade dos moradores nas grotas atendidas pelo programa. Contudo, a 7
8
DE PAULA, J., BESEN, D., ZACARIAS, P. A produção de dados espaciais qualificados como forma de intervenção em assentamentos precários: o mapeamento das grotas de Maceió. Dimensões do intervir em favelas: desafios e perspectivas, 2019. São Paulo: Peabiru TCA / Coletivo LabLaje. Disponível em: https://www.lablaje.org/dimensoes-do-intervir-1. Acesso em: 30 jan. 2020. Algumas dessas melhorias estão sendo realizadas por meio da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) – modalidade de prestação de serviços de arquitetura fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas (CAU-AL) e o ONU-Habitat.
292
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
escassez de informações e dados qualificados, georreferenciados e tempestivos acerca desses territórios, bem como um incipiente ambiente institucional voltado para a produção, sistematização e uso dos dados por parte do poder público limitam a capacidade de desenvolvimento de uma abordagem mais complexa, multissetorial e transversal por parte dos entes públicos – proposta inicial do programa. Para abordar esse desafio, o Governo do Estado de Alagoas buscou formar algumas parcerias institucionais que pudessem auxiliar na qualificação das políticas nesses territórios. A próxima seção irá explorar uma dessas parcerias: o projeto “Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada” firmado em 2017 com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). OPÇÕES DE POLÍTICA IMPLEMENTADAS As discussões em torno da implementação da Agenda 2030 reconhecem que avanços de indicadores sociais referentes a toda uma população podem invisibilizar situações bastante vulneráveis de determinados segmentos populacionais. Esse é o caso de moradores de assentamentos precários em todo o mundo, os quais muitas vezes são desprovidos de acesso a serviços básicos virtualmente universalizados em outras áreas de suas cidades. Esse é um dos temas da chamada por uma “revolução dos dados” feita pelas Nações Unidas para o cumprimento da Agenda 20309. Uma estratégia para lidar com esse problema é a produção de dados espaciais e desagregados, que permite o efetivo cumprimento do princípio de “não deixar ninguém para trás”. Considerando que o déficit de capacidades nos governos locais para a coleta, utilização e disseminação de informações espaciais, desagregadas e que contemplem assentamentos informais é uma realidade global10, essa é uma das áreas de atuação do ONU-Habitat. Portanto, tendo em vista o cenário descrito na seção anterior e a intenção do Governo do Estado de Alagoas de incorporar à sua estratégia de ação um direcionamento maior às agendas globais de desenvolvimento sustentável, em junho de 2017 foi assinado um Acordo de Contribuição entre as duas instituições para a implementação do 9
10
Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution for Sustainable Development. A world that counts: Mobilizing the Data Revolution for Sustainable Development, 2014. Disponível em: http:// www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf. Acesso em: 20 nov. 2018. SWANSON, E. Data Disaggregation: Like the Layers of a Pyramid. United Nations Foundation, 2015. Disponível em: http://unfoundationblog.org/data-disaggregation-like-the-layers-of-a-pyramid. Acesso em: 23 nov. 2018.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
293
projeto “Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada”. O principal foco do projeto é a produção de dados, informações e estratégias qualificadas e informadas pelas realidades territoriais e urbanas de Maceió, de modo a produzir linhas de base e qualificar políticas públicas baseadas em evidências na cidade. O projeto contém cinco resultados que empregam metodologias do ONU-Habitat desenvolvidas tanto em âmbito global, como local. Este artigo irá detalhar as seguintes metodologias: • Mapa Rápido Participativo (MRP); • Perfil Socioeconômico dos moradores das grotas de Maceió; • Iniciativa de Prosperidade das Cidades. O Mapa Rápido Participativo (MRP) de Maceió O MRP foi criado no âmbito de uma parceria entre ONU-Habitat e o Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo sido implementada entre 2012 e 2016 nessa cidade pelo Programa Rio+Social. Consiste em uma metodologia de produção de dados espaciais sobre a qualidade da infraestrutura urbana em assentamentos precários que realiza uma coleta sistemática de informações em campo e em consulta a seus moradores. Seus objetivos visam permitir que: i) investimentos públicos priorizem de forma adequada serviços e territórios urbanos mais necessitados; e ii) intervenções públicas possam ter sua efetividade monitorada ao longo do tempo. No caso de Maceió, a coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2018 e contemplou os seguintes temas:
• Melhorias urbanas e riscos ambientais; • Sinalização das vias e serviços postais; • Infraestrutura para mobilidade; • Acesso aos meios de transporte coletivo; • Padrão das moradias; • Abastecimento de água; • Esgotamento sanitário; • Drenagem de águas pluviais; • Coleta de lixo e limpeza urbana; • Fornecimento de energia elétrica; • Iluminação pública; • Espaços e equipamentos públicos.
294
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
A principal premissa da metodologia é que a oferta de serviços urbanos em assentamentos precários – ainda que seja frequentemente precária e inferior àquela no restante da cidade – não é homogênea. Existem diferenças fundamentais tanto entre assentamentos distintos, quanto entre porções de um mesmo assentamento. Portanto, uma avaliação detalhada desses serviços e o mapeamento dessas diferenças permitem a identificação de áreas e serviços prioritários para intervenção, informação fundamental em um quadro de recursos públicos escassos. O MRP combina duas estratégias de coleta in loco de dados por agentes de campo: i) observação das condições visíveis da infraestrutura urbana guiada por um caderno de campo; e ii) consulta a moradores mais antigos por meio de um questionário semiestruturado sobre aspectos impossíveis de identificar na visita, tais como: pontos frequentes de alagamento após uma chuva, funcionamento da iluminação pública à noite, histórico da periodicidade do fornecimento de água, entre outros. Essa observação e análise sistemática do território permite que a equipe de campo delimite “microáreas”, a principal unidade de análise do diagnóstico. As microáreas são porções contíguas de um assentamento precário cuja oferta e qualidade dos serviços urbanos são homogêneas em toda sua extensão interna, mas que contrastam com áreas vizinhas dentro de um mesmo assentamento. Em seguida, há então uma divisão sistemática de todos os assentamentos em microáreas, o georreferenciamento dos seus limites e uma padronização quantitativa dos dados coletados por meio dos questionários e cadernos de campo. Esse último passo permite a produção de indicadores temáticos – em um espectro de 0 a 6 – e a classificação da oferta de cada serviço em cada microárea em categorias crescentes de adequação. Por fim, é calculado um índice sintético para cada microárea, apontando as condições gerais agregadas dos serviços urbanos naquele território. Além da sistematização dessas informações em tabelas, todos os indicadores são então representados por meio de cores em mapas georreferenciados desses assentamentos, permitindo uma fácil visualização dos resultados da metodologia pelos gestores públicos. No caso de Maceió, o mapeamento e identificação de todas as grotas das cidades antecedeu a aplicação da metodologia. Esse passo foi essencial, dado que a delimitação dos aglomerados subnormais produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2010 não contemplou uma série de áreas que estavam posteriormente ocupadas por assentamentos precários em 2018. Das 100 grotas objeto do MRP, 74 haviam sido delimitadas pelo IBGE em 2010 e outras 26 foram identificadas, mapeadas e delimitadas por esse trabalho inicial, em um esforço conjunto do ONU-Habitat com a Secretaria Estadual de Planejamento, Gestão e Pa-
295
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
trimônio (Seplag) e a Secretaria Estadual de Transportes e Desenvolvimento Urbano (Setrand). Ao final da implementação do MRP, foram entregues ao Governo do Estado de Alagoas: um relatório descritivo das condições urbanísticas por cada grota, 20 mapas auxiliares – que contemplam variáveis específicas dos indicadores temáticos, como tipo de despejo de esgoto pela maioria dos domicílios e lugares onde há descarte de lixo –, 10 mapas de indicadores temáticos e um mapa do índice sintético das condições gerais por grota. Considerando as 100 grotas mapeadas, no total foram entregues: 100 relatórios descritivos, 2.000 mapas auxiliares, 1.000 mapas de indicadores temáticos e 100 mapas de condições gerais. Um exemplo desses mapas pode ser visto abaixo na Figura 1. FIGURA 1 exemplos de mapas da Grota da Alegria Mapa de condições gerais
Mapa temático – drenagem
Mapa temático – esgoto
Mapa temático – lixo
296
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Mapa auxiliar – problemas relacionados ao esgotamento sanitário
Mapa auxiliar – cobertura do esgotamento sanitário
Fonte: ONU-Habitat, 201911
Atualmente, a Seplag está trabalhando na incorporação desses mapas georreferenciados a uma plataforma interativa de dados e painéis chamada “GeoGrotas”, desenvolvida pela Secretaria com o objetivo de facilitar o acesso, a visualização e a análise dessas informações. Esse passo será essencial para a produção qualificada de insumos para políticas públicas que visem reduzir a precariedade das condições urbanas nesses assentamentos, reduzindo a desigualdade social e espacial dentro do território de Maceió. Perfil Socioeconômico dos moradores das grotas de Maceió Enquanto a metodologia do MRP produziu dados e informações sobre as condições urbanas em todos os 100 assentamentos precários de Maceió, o Perfil Socioeconômico veio suprir uma lacuna de dados atualizados acerca das condições socioeconômicas dos seus moradores. As informações mais recentes sobre essas características foram produzidas pelo Censo Demográfico de 2010 e eram referentes apenas a 76 aglomerados subnormais localizados em grotas. Diante desse hiato de quase uma década de informações, bem como do alto custo de levantamento de dados censitários – ou seja, que cobrissem a totalidade dos domicílios em todos os territórios –, o Perfil Socioeconômico contribui para suprir essa defasagem temporal por meio de uma pesquisa amostral que trouxe informações representativas do universo de moradores de grotas e desagregáveis ao nível das oito Regiões Administrativas (RA) da cidade. A metodologia empregada resultou de uma adaptação do Índice de Progresso Social feita também 11
ONU-Habitat. Mapa Rápido Participativo – Grota da Alegria, 2019. Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió. Disponível em: http://dados.al.gov.br/my/dataset/mapas-rapidos-participativos-mrp-sobre-grotas-de-maceio. Acesso em: 30 jan. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
297
em uma parceria entre o ONU-Habitat e o IPP, que inclui em seu desenho perguntas sobre a percepção dos moradores sob aspectos da sua qualidade de vida. Foram realizadas um total de 2.109 entrevistas em 46 setores censitários, cobrindo os seguintes temas:
• Características sociodemográficas dos domicílios; • Educação; • Emprego e renda; • Programas sociais; • Esporte, cultura e lazer; • Acesso a serviços e equipamentos urbanos e sociais; • Habitação; • Saúde e conforto; • Violência; • Capital social, valores e participação política; • Tolerância e inclusão. A partir desse estudo, algumas informações interessantes puderam ser levantadas sobre os moradores das grotas: • A renda média per capita das grotas é de R$477,83, contrastando com Maceió (R$1.060) e Brasil (R$1.337);12 • A taxa de pobreza varia consideravelmente entre as RAs; enquanto a RA 3 tem uma taxa de 49,5%, a RA 6 – mais distante do centro econômico da cidade – é de 67%. A taxa de pobreza da cidade é 30,3% e no Brasil é de 25,5%13; • 39,7% dos jovens entre 15 a 24 anos das grotas de Maceió não estudam, nem trabalham. Esse dado é maior que aquele referente a Maceió (21,3%) e ao Brasil (17,1%)14. Ademais, o Perfil Socioeconômico permitiu aferir o número atualizado de moradores de grotas em 2018. Após o desenho da amostra – que utilizou 12
13
14
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais 2018 – Rendimento domiciliar per capita médio e mediano das pessoas, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os Municípios das Capitais – 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?edicao=25875&t=resultados. Acesso em: 08. jun. 2020. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Op. cit. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Op. cit.
298
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
o método de amostragem de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) para selecionar os 46 setores censitários que seriam visitados –, os agentes de campo realizaram uma contagem em campo de todos os domicílios nesses setores. O número de domicílios aferidos pôde então ser comparado ao número de domicílios constantes no Censo Demográfico de 2010, permitindo o cálculo de uma razão de crescimento do número de domicílios em cada setor e, em seguida, nas grotas de cada RA e em toda a cidade. Os pesos de expansão da amostra e o número médio de moradores por domicílio foram utilizados para então calcular o número de moradores de grotas em cada RA e em toda a cidade. Nesses cálculos, as 26 novas grotas foram consideradas por meio de uma correção dessa estimativa populacional. QUADRO SÍNTESE População das grotas de Maceió População em aglomerados subnormais localizados em grotas (Censo 2010 e SEPLAG-Alagoas)
90.795 hab.
População em grotas estimada pelo Perfil Socioeconômico (ONU-Habitat, 2018)
101.011 hab.
Região Administrativa 3
9.644 hab.
Região Administrativa 4 População em grotas estimada pelo Perfil Socioeconômico por Região Administra- Região Administrativa 5 tiva (ONU-Habitat, 2018) Região Administrativa 6
18.093 hab.
Região Administrativa 8
6.895 hab.
51.524 hab. 14.857 hab.
Fonte: ONU-Habitat, 2019 . 15
Iniciativa de Prosperidade das Cidades A Iniciativa de Prosperidade das Cidades é uma metodologia criada em 2013 pelo ONU-Habitat constituída por: i) Índice de Prosperidade das Cidades (IPC), composto por 32 indicadores tabulares e espaciais; e ii) Plano de Ação, documento produzido por atores locais com base nos resultados do IPC e que os permite identificar e desenhar políticas contextualizadas por uma leitura integrada e intersetorial dos resultados da coleta dos indicadores urbanos. O objetivo da Iniciativa de Prosperidade das Cidades é servir de ferramenta de qualificação da tomada de decisões e de monitoramento do sucesso das políticas urbanas por meio de uma abordagem baseada em evidências. Sua 15
ONU-Habitat. Perfil Socioeconômico das Grotas de Maceió, 2019 (no prelo). Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
299
principal característica é estar ancorada em uma concepção holística de prosperidade urbana que vai além das tradicionais métricas focadas puramente no desempenho econômico das cidades, permitindo uma leitura mais complexa e intersetorial. Nesse sentido, o IPC conjuga indicadores agrupados em 6 dimensões: 1) Produtividade, 2) Desenvolvimento de Infraestrutura, 3) Qualidade de Vida, 4) Equidade e Inclusão Social, 5) Sustentabilidade Ambiental e 6) Governança e Legislação Urbanas. A metodologia já foi aplicada em mais de 400 cidades em todo o mundo, de forma que também constitui uma plataforma global de comparação e de monitoramento da prosperidade urbana, por meio da qual pode-se inferir tendências e hipóteses de causalidade entre políticas urbanas e bons resultados de indicadores. O IPC trabalha também com uma série de indicadores espaciais que consideram aspectos detalhados do desenho urbano – como densidade da malha viária, velocidade da expansão da mancha urbana, espaço dedicado a espaços públicos e outros –, algo bastante original que aporta um valor único para gestores de cidades. Ademais, a metodologia também pode ser utilizada para monitorar as metas urbanas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), constituindo uma poderosa ferramenta de localização da Agenda 2030 nos municípios. Em termos de sua estrutura e método de cálculo, o Índice de Prosperidade das Cidades é composto por 32 indicadores urbanos16 padronizados em uma escala de pontuação de 0 a 10017. Cada um desses indicadores é alocado dentro de uma das 20 subdimensões do IPC, que, por sua vez, são alocadas dentro das 6 dimensões enumeradas acima. Partindo da lógica de que a prosperidade urbana é resultado do equilíbrio entre os diversos elementos que a compõem, cada uma das 6 dimensões possui um peso igual no cálculo do 16
17
O IPC pode ser aplicado em 3 versões: i) a versão básica, que possui um número mínimo e predeterminado de indicadores (32 no total); ii) a versão estendida, que também possui um número predeterminado de indicadores (60 no total) mais complexos e não tão comumente produzidos em nível local; e iii) a versão contextual, sem um número predeterminado de indicadores, permite somar aos 60 indicadores da versão estendida outros indicadores produzidos localmente em cada cidade. Enquanto todas as versões do Índice permitem uma comparação global de desempenho dos indicadores, a versão contextual permite também que a metodologia incorpore pactos e prioridades de monitoramento de políticas urbanas estabelecidos localmente. Em Maceió, foi calculada a versão básica. A padronização dos indicadores busca responder, por exemplo, a seguinte questão: o valor de 3,75 médicos por mil habitantes (dado encontrado para Maceió) é muito ou pouco em uma comparação internacional? Na maioria dos casos, compara-se o resultado de cada indicador a um banco de dados global com informações de outras cidades, de modo a indicar se a cidade analisada tem um desempenho positivo e negativo. Nesse exemplo, o indicador 2.2.1. Densidade médica utiliza valores de referência máximos e mínimos retirados de um banco de dados do Banco Mundial. Isso permitiu padronizar o valor de 3,75 médicos por mil habitantes para uma escala de 0 (ruim) a 100 (muito bom), em que Maceió obteve o valor de 68,46. Esse mesmo processo é feito para todos os 31 indicadores, cada um com um valor de referência específico.
300
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Índice final. Por sua vez, as subdimensões também têm peso igual dentro de suas respectivas dimensões e são compostas, cada uma, por um número diferente de indicadores. Como resultado, os indicadores não têm um peso igual no cálculo do índice final, dado que a ponderação dos pesos de cada um dos 31 indicadores varia para conferir equilíbrio aos diferentes aspectos que constituem a prosperidade urbana. O gráfico 1 ilustra a disposição das subdimensões dentro das dimensões do IPC. O desempenho de cada indicador, subdimensão e dimensão padronizados na escala de 0 a 100 corresponde a uma estratégia de ação, como mostra o esquema abaixo:
pontuação DESEMPENHO
00 - 39 Muito fraco
40 - 49 Fraco
50 - 59 60 - 69 Moderado Moderado fraco sólido
70 - 79 Sólido
80 a 100 Muito Sólido
>>>>>>>>>>>>> ESTRATÉGIAS de ação
PRIORIZAR políticas urbanas
FORTALECER políticas urbanas
CONSOLIDAR políticas urbanas
Fonte: ONU-Habitat, 2019.18
Como apontado anteriormente, a noção holística de prosperidade do IPC demanda uma análise intersetorial e integrada dos seus resultados, visto que todos os elementos que compõem o conceito de prosperidade são interconectados. Portanto, conclusões demasiadamente focalizadas e setoriais não são encorajadas pela metodologia. No caso de Maceió, a leitura dos resultados permitiu fazer um diagnóstico transversal que, em linhas gerais, comunica as seguintes mensagens e prioridades ao gestor público:
18
ONU-Habitat. Relatório Analítico – Índice de Prosperidade de Maceió, 2019 (no prelo). Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió.
19
Poder econômico Carga Econômica Aglomeração econômica Emprego
ONU-Habitat.Op. cit.
1.1 1.2 1.3 1.4
2.4 2.5
2.1 2.2 2.3
Habitação Infraestrutura social Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) Mobilidade urbana Forma urbana
3.1 3.2 3.3 3.4
4.3
4.2
4.1
Equidade econômica Inclusão social Inclusão de gênero
Fonte: ONU-Habitat, 2019.19
Saúde Educação Segurança pública Espaços públicos
5.3
5.2
5.1
Gestão de resíduos Energia sustentável
Qualidade do ar
GRÁFICO 1 Resultados das subdimensões do IPC de Maceió
6.3
6.1 6.2
Participação Financiamento municipal e capacidades institucionais Governança da urbanização
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
301
302
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
1. O saneamento básico, a qualidade do ar e a moradia adequada devem ser priorizados em Maceió, de modo a fortalecer os indicadores de saúde dos seus moradores, a proteção ao meio ambiente e, consequentemente, a economia local. O foco deve estar nos assentamentos precários e nas áreas ambientalmente sensíveis (grotas, encostas e lagoas do município); 2. A educação e a qualificação profissional são chaves para a redução da pobreza, das desigualdades e da promoção do desenvolvimento econômico. Para tanto, a educação deve responder às transformações tecnológicas da economia e buscar inclusão igualitária no mercado de trabalho. O foco deve estar nos jovens, mulheres, negros e moradores de assentamentos precários; 3. A oferta qualificada de serviços públicos é a chave para reduzir desigualdades, a pobreza e as mortes violentas. O foco deve ser nos territórios vulneráveis e na adequação desses serviços às necessidades dos grupos mais vulneráveis, tais como mulheres, crianças, idosos e negros; 4. O território urbano é um elemento integrador capaz de reduzir desigualdades; portanto, investimentos devem ser estratégicos, considerando as populações mais vulneráveis e criando oportunidades nos lugares certos. O foco deve ser na promoção de uma cidade compacta, no adensamento de áreas consolidadas e na expansão de serviços públicos20. Essas mensagens resumem algumas das conclusões do relatório de análise do IPC da cidade e estão atualmente sendo utilizadas no planejamento do Plano de Ação da Iniciativa de Prosperidade das Cidades de Maceió, a ser finalizado no primeiro semestre de 2020. RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA A proposta do programa Vida Nova nas Grotas de direcionar investimentos públicos nos territórios mais vulneráveis da cidade tem enorme potencial de melhorar os indicadores urbanos de Maceió, uma vez que consiga articular, de maneira transversal e intersetorial, uma abordagem de políticas públicas baseadas em evidências nessas comunidades. A parceria com o ONU-Habitat produziu uma massa crítica de dados, informações, indicadores e propostas de estratégias qualificadas que podem agregar valor ao programa. Ademais, foram produzidas linhas de base consistentes que permitirão um monitoramento e avaliação de impactos de longo prazo das políticas públicas implementadas. Tendo em vista que o programa consiste em uma política pública do Governo do Estado de Alagoas em desenvolvimento e aperfeiçoamento, seus próximos desafios consistem em: 20
Mensagens apresentadas pelo ONU-Habitat à Comissão de Acompanhamento do projeto “Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada” em novembro de 2019.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
303
Incorporar os dados produzidos no ciclo de políticas públicas do Governo do Estado – não apenas na sua formulação, mas também em dinâmicas de monitoramento e avaliação; Promover entre os servidores públicos uma capacitação continuada para o uso de dados espaciais e georreferenciados. O próprio projeto atual do ONU-Habitat com o Governo do Estado reconhece a importância dessa promoção em um dos seus resultados, de modo que já foi entregue ao estado a proposta de um Programa de Capacitação e Treinamento dos servidores; Investir em plataformas de visualização e cruzamento de dados especiais – como o próprio GeoGrotas – que seja flexível para incorporar novas camadas de informações, como os resultados do Censo 2020; Articular as políticas com fontes de dados de outros atores, como a academia, a sociedade civil, a Prefeitura Municipal de Maceió e outros. Por fim, é importante ressaltar que por si só dados não criam mudanças. Ainda que eles possam fornecer subsídios para que os atores se articulem, a abertura de bases de dados e a participação social podem catalisar a mobilização necessária para que essas mudanças aconteçam e sejam efetivas. Portanto, o aprofundamento da inclusão de diferentes atores nos processos de debate público e a tomada de decisões no estado de Alagoas – de forma aberta, transparente e informada por dados – podem criar as condições necessárias para superar diversos dos desafios e vulnerabilidades que a capital do estado enfrenta atualmente. REFERÊNCIAS DE PAULA, J., BESEN, D., ZACARIAS, P. A produção de dados espaciais qualificados como forma de intervenção em assentamentos precários: o mapeamento das grotas de Maceió. Dimensões do intervir em favelas: desafios e perspectivas, 2019. São Paulo: Peabiru TCA / Coletivo LabLaje. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais 2018. Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution for Sustainable Development. A world that counts: Mobilizing the Data Revolution for Sustainable Development, 2014. ONU – Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 2015. ONU-Habitat. Mapa Rápido Participativo – Grota da Alegria, 2019. Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió. ONU-Habitat. Perfil Socioeconômico das Grotas de Maceió, 2019 (no prelo). Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió. ONU-Habitat. Relatório Analítico – Índice de Prosperidade de Maceió, 2019 (no prelo). Projeto Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada. ONU-Habitat: Maceió. PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. IN046_AE – Índice de esgoto tratado referido à água consumida, 2018. SWANSON, E. Data Disaggregation: Like the Layers of a Pyramid. United Nations Foundation, 2015.
Capítulo 25 Grafite e a Transformação Regulada do Espaço Urbano: Governança e Operacionalização da Manifestação Artística e Cultural na Cidade Irene Patrícia Nohara
1. INTRODUÇÃO A presente abordagem foi realizada para prestigiar os trabalhos capitaneados pela professora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, com a interface entre o debate de cidades inteligentes e sustentáveis no MackCidade, objetivando elaborar uma nota em forma de projeto para qualificar o debate do grafite enquanto expressão artística e cultural na cidade de São Paulo, com sugestões de medidas práticas e soluções a serem adotadas aos problemas e conflitos que são suscitados. Grafite é atualmente categorizado como arte urbana (street art) ou urbanografia, sendo o presente projeto uma orientação com sugestões de medidas que reconheçam as potencialidades desse tipo de arte não apenas para o embelezamento do espaço urbano,1 mas também como elemento agregador da visibilidade de projetos sociais, ambientais e de ofensivas transformadoras da experiência cultural no espaço urbano. Será feito um sumário executivo, uma descrição do estado da arte, em que são identificados problemas derivados da diferença existente entre pichação e grafite, sendo que enquanto aquela expressão é uma atividade que, na prática, conspurca a cidade, o grafite, por sua vez, é produto de manifestações artísticas que são progressivamente apreciadas devido à qualidade estética, sendo inclusive São Paulo um polo promotor de artistas de renomado reconhecimento internacional nesta modalidade de manifestação cultural e artística, a exemplo de Os Gêmeos e Eduardo Kobra. Ademais, nas soluções, serão estimuladas as possibilidades do uso do grafite associado a projetos sociais e ambientais, por meio da sociedade organizada e do Poder Público. O grafite também será enfocado enquanto fator 1
O grafite substitui o cinza dos espaços urbanos e convida o público a uma experiência que pode ser lúdica, reflexiva ou de mera apreciação.
306
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
de fomento ao incremento do turismo sustentável, com base em experiências de países como a Colômbia e também da possiblidade de se replicar modelos exitosos extraídos das práticas da própria cidade de São Paulo. Será identificado que é justamente na ambiência urbana que o grafite se reveste de especial manifestação cultural, surpreendendo os habitantes da cidade com artes de teor reflexivo ou meramente contemplativo. De outro lado, se objetiva trazer a base legal para o regular uso do grafite, dado que ele tanto pode recair sobre o espaço público como sobre o espaço privado, sendo então sugerida a adoção de medidas, dentro do ordenamento jurídico, para que sejam compatibilizadas a expressão artística e, portanto, cultural com a vontade daqueles que são os proprietários dos locais grafitados, que também sofrerão os seus impactos, para que haja a operacionalização da dimensão sociopolítica da governança em termos mais democráticos.2 Serão aventadas soluções ou opções políticas, dentro das molduras do ordenamento e da necessidade de proteção à arte urbana, no sentido de harmonizar a realização do grafite com projetos associados que foquem o embelezamento estético e cultural da cidade, com simultâneo fomento do turismo sustentável e incremento da fruição coletiva da cidade, com suas formas plurais de existência e de manifestações. Espera-se, portanto, oferecer recomendações de políticas transversais que promovam esse tipo de arte, a partir do reconhecimento de sua importância e de seu potencial de apreciação coletiva, calibrando seu uso em função da base jurídica existente e da necessidade de se respeitar e reconhecer o valor do grafite. 2. RESUMO OU SUMÁRIO EXECUTIVO O presente projeto, em forma de nota, apresenta o estado da arte do grafite, sua natureza de arte urbana, suas potencialidades de uso agregados a projetos de relevância social e ambiental, bem como os limites jurídicos com base na regulação existente. Parte-se da descrição dos problemas suscitados quando do debate da “descriminalização do grafite”, sua separação da situação da pichação, bem como seu uso em grandes metrópoles como São Paulo. Na exposição dos problemas também se objetiva suscitar a sensibilização para que, mesmo que haja uma regulação do uso, ela não seja tão exagerada e desproporcional a ponto de limitar a liberdade de expressão artística do grafiteiro, para que o grafite não seja restringido a uma mera espécie de “arte encomendada”. 2
RONCONI, Luciana. Governança Pública: um desafio à democracia. Emancipação, Ponta Grossa, 11 (1): p. 21-34, 2011.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
307
Na sequência, haverá a exposição de projetos que podem ser tomados como modelos para a promoção do grafite, dentro das bases legais existentes, para que haja soluções de compatibilização e estímulo, de forma equilibrada e também apta a gerar uma governança pública que tenha potencialidade de agregar inúmeros projetos, transformando-o numa forma de dar mais visibilidade inclusive às políticas públicas, bem como ao estímulo a uma fruição e, portanto, a uma contemplação artística (e cultural) da cidade. 3. PROBLEMAS: CAUSAS E EXTENSÃO Em paralelo ao movimento de “descriminalização do grafite” e com o progressivo reconhecimento de seu valor artístico e cultural nas cidades, dada sua riqueza enquanto manifestação de arte urbana, sobretudo mural, houve a percepção de que, para além da exagerada e injusta alcunha do vandalismo, o grafite provocava, no fundo, valorização de espaços públicos e privados. Paulatinamente ao reconhecimento e apreciação do grafite, houve sua associação a ações específicas voltadas à transformação estética do espaço urbano. Trata-se de manifestação artística geralmente associada à contracultura, ao Hip Hop,3 que ganhou reconhecimento enquanto forma de expressão alternativa em Nova Iorque e na Europa4 a partir da década de setenta. Depois, o grafite foi ganhando o gosto estético e a apreciação coletiva nas grandes metrópoles da América do Sul também. O grafite norte-americano está associado à expressão artística que reflete a vida urbana (street art), com foco em temáticas de exclusão social. Apesar da inspiração, o grafite brasileiro adquiriu manifestações próprias, sendo atualmente reconhecido como um dos melhores do mundo. Em São Paulo, historicamente, um espaço que foi precursor a se abrir ao grafite, desde os anos oitenta, foi o túnel que liga a Avenida Paulista à Avenida Doutor Arnaldo, o qual se transformou num painel grafitado. Do ponto de vista da gestão pública, a institucionalização do grafite em âmbito Municipal, em São Paulo, começou a ser incentivada com a Prefeita Luiza Erundina (1989-1992). Outra conhecida localidade agregadora de turismo e de vida cultural, sobretudo pela presença do grafite, é o “Beco do Batman”, localizado no bairro boêmio da Vila Madalena, em São Paulo, que reúne pinturas de diversos estilos de artistas, atraindo turismo e também atividades culturais. No entanto, o problema que o grafite pode gerar é provocado por essa ambivalência, pois, ao mesmo tempo em que há pessoas que o admiram (apreciam), 3
4
BOEMER, Otávio Fabro [UNESP]. Graffiti como meio: processo de criação entre sistemas – a lei, a rua, o mercado e a pesquisa em arte. 2013. LARA, Arthur Hunold. Grafite arte em movimento. São Paulo: Dissertação – ECA/USP, 1996. p. 50.
308
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
outras não apreciam (ou até o depreciam...) que ele seja estendido a todos os espaços urbanos. Assim, a presente análise procurará enfatizar a necessidade de medidas de governança com dimensão sociopolítica das práticas de grafite, no intuito de que haja o consentimento de proprietários, locatários e arrendatários, ainda, caso se trate de espaço público, também a autorização do órgão competente, sendo observadas as posturas municipais e normas editadas pelos órgãos responsáveis pela conservação, para que haja sua veiculação regular. Segundo Marcílio Toscano Franca Filho, tradicionalmente, a prática do grafite foi associada a qualidades como: marginalidade, anonimato, espontaneidade, cenaridade, velocidade, precariedade e fugacidade. Contudo, adverte que nem todas essas sete características mencionadas abrangem a maioria dos grafites encontrados em grandes centros urbanos de hoje. Em primeiro lugar, porque os artistas vão se consagrando e desejam colocar seu nome na arte realizada. Depois, dado incremento no número de apreciadores do grafite, muitas pessoas passam a encomendá-lo, assim, conforme expõe Marcílio, “muitas vezes, governos, particulares e empresas privadas encomendam painéis a grafiteiros famosos ou anônimos, que elaboram cuidadosamente as suas peças, para que remanesçam longamente”.5 Também essa espontaneidade é afetada em suas características com tantos requisitos de regulação. Assim, essa questão suscita a seguinte ponderação: será que o excesso de burocratização da realização do grafite pode prejudicar intrinsecamente o seu espírito de liberdade, de contracultura, de valorização da “arte pela arte”? Nesse ponto, há muitas inconsistências de se tentar qualificar ou desqualificar a arte... Assim, ao mesmo tempo em que o grafite passa a ser mais e mais regulado, essa regulação não pode ser tão excessiva ao ponto de fulminar o núcleo essencial6 dessa liberdade artística,7 amesquinhando-a ou restringindo-a ao papel de “arte encomendada”, tanto na forma como no conteúdo. Por conseguinte, o problema do excesso de regras e limites à sua realização é o que pode provocar uma acomodação de sua manifestação que poderia ser amesquinhadora da liberdade que deve caracterizá-lo. O presente projeto não apresenta, portanto, soluções prontas, mas algumas orientações e sugestões para que o grafite seja realizado sem que se coíba a livre manifestação dos 5
6
7
FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. O grafite e a preservação de sua integridade: a pele da cidade e o droit au respect no direito brasileiro e comparado. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4, p. 1348, 2016. HÄBERLE, Peter. La garantia del contenido essencial de los derechos fundamentales. Madrid: Dykinson, 2003. p. 58. Em alguns casos, para que haja concordância, sobretudo em encomendas privadas, há a necessidade de verificação prévia de sua realização, mas, em outros, dá para fornecer espaços físicos para que os artistas trabalhem com maior liberdade na realização do grafite.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
309
artistas, mas, ao mesmo tempo, que essa liberdade não esbarre na consensualidade que deve permear as intervenções urbanas na contemporaneidade, tendo em vista as liberdades que entram em choque nessa situação. Os problemas identificados esbarram, então, em determinados grupos afetados: (1) os artistas, que devem ter assegurada a possibilidade de manifestação com um grau adequado de liberdade; (2) os proprietários, locatários e arrendatários dos imóveis que serão grafitados, sejam eles públicos ou privados, que devem ter também assegurado seu consentimento; e (3) os cidadãos que irão ter acesso e apreciar (ou não) essa forma de expressão artística e cultural. A ideia é que haja uma regulação adequada (razoável e proporcional) para compor os diversos interesses e, ao mesmo tempo, provocar o reconhecimento dessa manifestação que ganha ainda maior potencialidade de transformação do espaço urbano quando associada com outras políticas públicas, conforme será visto. 4. BASE LEGAL Enquanto a pichação é considerada crime, de acordo com o art. 56 da Lei nº 9.605/98, com redação dada pela Lei nº 12.408/2011, na previsão dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, sendo vista como uma “conspurcação” e punida com detenção, de três meses a um ano, e multa, sendo a pena aumentada se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em razão de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a realização do grafite foi descriminalizada. O ato de grafitar não é considerado crime, desde que seja realizado com objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional, conforme § 2º do art. 56 da Lei nº 9.605/95, acrescentado pela Lei nº 12.408/2011. A descriminalização do grafite foi engendrada a partir da valorização e reconhecimento de sua característica artística, não obstante ainda setores mais conservadores considerarem a prática do prisma de poluição visual. Vulgarmente, procura-se atribuir a alcunha de vandalismo, ao passo que uma visão mais progressista consegue enxergar o embelezamento que o grafite pode proporcionar tanto em bens públicos, como em privados, ainda mais em São Paulo, que também reúne consagrados artistas, reconhecidos nacional e internacionalmente.
310
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
5. JUSTIFICATIVA PARA A AÇÃO NO PROBLEMA Discute-se, na atualidade, a questão da gestão das cidades, sendo nessa dinâmica enfocada também a preservação do patrimônio cultural, bem como a sustentabilidade urbana. A faceta de gestão democrática da cidade engloba, portanto, a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos em planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. No tocante ao grafite, pode-se inserir o seu debate no contexto da diretriz presente no Estatuto da Cidade de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico e arqueológico. Ocorre que nem sempre os gestores públicos enxergam esse valor que o grafite tem nos dias atuais, havendo, portanto, a necessidade de sensibilização a partir de políticas que integrem o grafite para que a sociedade avance no sentido de reconhecer suas potencialidades não apenas do embelezamento urbano, mas até de serem veículos de propagação de projetos e de manifestação artísticas e culturais, funcionando como polo agregador de turismo e atividades de lazer e contemplação. Paradigma do uso do grafite e incremento do turismo é o bairro Getsemaní, em Cartagena, na Colômbia. Cartagena é uma cidade que remete ao tempo colonial, resistiu bravamente a ataques piratas por concentrar um entreposto, tendo sido pioneira em se tornar independente da Espanha. O bairro Gestemaní já foi moradia de escravos, ponto de tráfico de drogas e zona de prostituição, mas passou por um renascimento cultural e se transformou numa região a congregar bares, pequenos restaurantes, manter residências, então, com preservação da vida urbana, com crianças brincando nas ruas, e também uma profusão de atividades culturais. Na proximidade da cidade amuralhada, que é preservada historicamente, o bairro Getsemaní foi considerado, em 2018, pela Revista Forbes, como o quarto melhor bairro do mundo. Em 2013, o bairro foi sede do Festival Internacional de Arte Urbana. Entre os fatores apontados para o bairro ser tão bem ranqueado, houve a consideração da arquitetura colonial, da riqueza da vida cultural, com a presença da população de gerações de famílias que lá habitam, apesar de haver também a gentrificação, e dos grafites vibrantes.8 Os grafites se harmonizam com as casas, sendo utilizadas, em geral, cores vivas para imagens de contos populares, reprodução de palenqueras colombinas (vendedoras de frutas), imagens inspiradas na cultura afro, mescladas com a fauna e a flora do país. Aliás, a Colômbia passou por um período de 8
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/os-12-bairros-mais-legais-domundo.html. Acesso em: 19 mar. 2020.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
311
combate ao narcotráfico e, depois, do estímulo às políticas urbanísticas de revalorização dos espaços públicos, as quais foram tão bem-sucedidas que o País começou a vivenciar um incremento no turismo em cidades como Medellín, Bogotá e Cartagena. Em Bogotá, há inúmeros circuitos turísticos feitos a pé ou de bicicleta voltados para apreciação da arte mural grafitada. Ressalte-se que São Paulo, que o IBGE estima ter mais de 12 milhões de pessoas,9 é um centro financeiro da América Latina, sendo também destacada pelo volume expressivo de serviços que congrega. É cidade com características semelhantes a metrópoles como Nova Iorque e também com diversas capitais asiáticas, sendo uma cidade global e, portanto, acentuadamente cosmopolita, que concentra tanto oportunidades como desigualdades sociais. Além de concentrar grande número de artistas e grafiteiros, a cidade é palco de potencial conflito, diante das falhas existentes nas políticas para sensibilização em relação ao valor cultural do grafite. Para ilustrar o quanto se trata de um ponto cego em determinadas políticas, deve-se recordar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo10 condenou, há poucos anos, a Prefeitura de São Paulo por uma ação de remoção de grafites que estavam na Avenida 23 de Maio, determinando a decisão que o valor da condenação seria vertido ao Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano. Logo, a justificativa para a ação no problema se legitima como uma ferramenta de sensibilização e de reconhecimento do grafite enquanto manifestação de valor cultural e artístico para a cidade de São Paulo, o qual deve, no entanto, ser devidamente regulado, para mitigar eventuais falhas ou conflitos por ele suscitados. Também se pretende trazer exemplos de projetos associados que podem ser replicados por serem bem-sucedidos em seus objetivos. 6. OPÇÕES DE POLÍTICAS PROPOSTAS OU SUGESTÃO DE SOLUÇÕES A primeira opção política que deve ser adotada, a partir dessa realidade, é trazer a sensibilização do grafite para dentro governança pública, isto é, da ambiência política. Há muitas pessoas que o admiram socialmente, ao mesmo tempo nem todos os políticos têm a visão de suas potencialidades na promoção e na fruição da cidade. 9
10
É o Município mais populoso do país. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agenciasala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacaodos-municipios-para-2018. Acesso em: 20 mar. 2020. A decisão demonstra que o Judiciário reconhece o grafite enquanto manifestação cultural e a sua remoção como dano ao patrimônio cultural. Cf. https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/26/ justica-de-sp-condena-doria-e-a-prefeitura-por-remocao-de-grafites-na-23-de-maio.ghtml. Acesso em: 20 mar. 2020.
312
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Assim, uma solução seria mapear os projetos sociais relacionados com o grafite e em que o grafite representa um fator de visibilidade e de maior fruição da experiência cultural. Um exemplo a ser destacado nesse sentido é a escada das bailarinas, pintada por Eduardo Kobra. Trata-se de uma intervenção que se deu na escadaria (apelidado “Escadão”) que fica na rua Alves Guimarães, Pinheiros, entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, em que o grafiteiro pintou bailarinas, tendo como inspiração Degás, mas, sobretudo, as bailarinas do Ballet Paraisópolis, inserindo o espaço no circuito de visitação turística de São Paulo. Quando da inauguração da arte na escadaria, em novembro de 2018, as integrantes do Ballet Paraisópolis vieram fazer apresentação no local. Paraisópolis é uma comunidade de baixa renda que se localiza próximo ao bairro do Morumbi. O projeto social e cultural do Ballet Paraisópolis consegue selecionar dançarinas talentosas para treino e também apresentações. Inserir o circuito do bairro de Pinheiros dentro do que ocorre em Paraisópolis, por meio da arte do grafite do Kobra, e ainda divulgar o projeto tão relevante, socialmente, do ballet é uma ação concertada de grande relevância tanto da divulgação do grafite, como de seu potencial para o reconhecimento de outros projetos culturais associados. O mesmo artista (Kobra) foi contratado para pintar a entrada da exposição de Leonardo da Vinci, no MIS Experience, em São Paulo, situação em que o grafite deu visibilidade grande para a exposição cultural numa arte grafitada em que Monalisa grafitava seu criador: da Vinci. Note-se que há também debates suscitados sobre se as empresas, quando contratam os grafites, não estariam ultrapassando os limites da lei cidade limpa ao agregarem campanhas publicitárias ou referências de marcas às artes, que não podem figurar em espaços públicos com tanta ênfase, mas que poderiam estar aparecendo nos grafites encomendados.11 A realização do grafite deve ser desenvolvida de forma ordenada tanto no espaço privado, como no público. No caso da cidade de São Paulo, o órgão responsável por determinar os limites e fiscalizar o grafite é o Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo). Assim, não poderia a Prefeitura de São Paulo ter apagado grafites sem a anuência do Conpresp, por exemplo. Outra solução para que haja fomento das atividades artísticas de grafite seria separar alguns espaços públicos nos quais a arte do grafite tivesse expressão mais livre pelas próprias características. Há localidades da cidade de 11
Nessa perspectiva, há o trabalho: PIRES, Elena Moraes; SANTOS, Fábio Alexandre dos. A cidade de São Paulo e suas dinâmicas: graffiti, Lei Cidade Limpa e publicidade urbana. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, vol. 26, 23 nov. 2018.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
313
São Paulo que são verdadeiros murais e museus ao ar livre, tendo o grafite se estabelecido com maior legitimidade e aceitação por parte das autoridades públicas e dos munícipes. Também é importante que a polícia receba treinamento e sensibilização para a fiscalização equilibrada da realização do grafite, não confundindo sua prática com a situação da pichação. Outro projeto relevante implementado na Zona Leste de São Paulo foi o projeto grafite contra o lixo. Na localidade de Ermelino Matarazzo, na rua Císper, havia um muro que se transformara em um local de descarte de lixo e entulhos. A partir de um projeto, capitaneado pela Subprefeitura local, em conjunto com o consórcio soma (responsável pela limpeza urbana na região) e com coletivos urbanos, datado de 5 de junho de 2016,12 houve a revitalização do espaço, com o descarte do lixo e uma convocação dos grafiteiros para colorir o muro. Foram engajados 320 grafiteiros que atenderam à convocação e coloriram 700 metros de muro, num evento que “selou” o momento de inauguração do espaço revitalizado. O projeto partiu dos coletivos para conscientização da necessidade do descarte adequado do lixo, em ação educativa e social, depois houve a limpeza do local, com a atuação direta do consórcio, e uma convocação de grafiteiros que coloriram a extensão total do muro, associando a atividade artística e cultural à pauta da sustentabilidade. Muitos moradores (particulares) solicitaram que houvesse também a arte feita nos portões de suas residências em frente ao muro, tamanho engajamento. Outrossim, opção particular de grande eficácia é a dos projetos como o “color+city”13, em que se estimula a cessão de espaço particular para a atividade de grafite, sendo possível oferecer um muro, uma fachada ou um espaço livre a ser pintado. O projeto determina que se ofereça o local, poste fotos dele e aguarde para que um grafiteiro escolha. Trata-se de projeto democrático, dado que o particular oferece o espaço e o grafiteiro tem a liberdade de escolher se irá realizar sua arte com maior liberdade no espaço ofertado. O dono do espaço pode conversar com o pintor e combinar algo, mas mantendo a autonomia de 100% da arte que será criada pelo grafiteiro. Depois, agregado à realização da arte, pode haver o desenvolvimento de aplicativos e de roteiros turísticos, realizáveis tanto a pé como de bicicleta, em que haja a contemplação dos principais grafites da cidade. É possível que nos aplicativos sejam inseridos dados de artistas e características da pintura mural, especificando sua simbologia e informações associadas. 12
13
Grafite x Lixo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zabSHzRc7LY. Acesso em: 04 mar. 2020. Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,site-encontra-muro-para-grafiteiro -imp-,1115042. Acesso em: 15 mar. 2020.
314
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
7. RECOMENDAÇÕES OU CONCLUSÃO Percebe-se, em suma, que o grafite é uma expressão artística e cultural que pode contribuir com o embelezamento da cidade. Para tanto, há necessidade de estabelecimento de dinâmicas que suplantem a ideia de transgressão à lei, sendo que a divulgação da regulação existente, bem como a disseminação educativa e cultural das vantagens de acoplá-lo a diversos projetos permitem que a atividade seja realizada com maior segurança, sem que provoque respostas abusivas de autoridades públicas. Necessário, então, que haja sensibilização do gestor público para as potencialidades de agregar o grafite numa concertação de governança que redunde em um processo de visibilidade, engajamento e estímulo à arte de rua, a qual pode ser agregada a diversos projetos. Diante do exposto no projeto, são as seguintes recomendações que são apresentadas em teor de conclusão: • que o Poder Público desenvolva essa sensibilização para os potenciais do grafite, associando-o, se conveniente, a projetos ambientais e também culturais; • que a iniciativa privada que aprecia o grafite participe de atividades relacionadas, sendo possível tanto acessar meios de oferecer espaços privados para o exercício da arte, para aqueles que a apoiam, como também usá-la para divulgar manifestações culturais, em encomendas de murais para eventos; • que as empresas privadas não abusem do uso do grafite, pois essa arte mural não pode ser um subterfúgio utilizado para a empresa propagar sua marca, em atividade de publicidade, situação que burlaria os limites, em São Paulo, da Lei da Cidade Limpa, ao “pegar carona” na licitude da arte do grafite; • que o terceiro setor acople a arte do grafite, caso ache conveniente e útil, também as suas manifestações, como ocorreu com a união entre a escadaria das bailarinas, pintada pelo artista Kobra, e o projeto ballet de Paraisópolis, projeto de grande repercussão e utilidade pública; • que as autoridades públicas sejam educadas e sensibilizadas para respeitar o artista e também para evitar com que a Municipalidade destrua artes coletivas, à revelia do órgão de fiscalização competente, que, na cidade de São Paulo, é o Conpresp; e • que a nova tecnologia de aplicativos una eventuais apoiadores dos grafites aos artistas, mas, na medida do possível, com a sensibilidade para a espontaneidade e autonomia da criação artística.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
315
Evidente que o grafite não pode ser realizado à revelia do consenso de particulares, muito menos para descaracterizar espaços públicos, mas, se houver o estímulo às suas expressões conforme a legislação, descortina-se, por meio do grafite, um potencial de transformação da percepção e da vivência urbana que modifica as relações e a visão que se tem da cidade. Em metrópoles cinzas como São Paulo, a cor e a expressão artística do grafite podem oferecer soluções humanizadoras e embelezadoras da cidade, criando identidade, com valorização da arte de rua, e também estímulo ao potencial de fomento à visibilidade de projetos associados. REFERÊNCIAS BOEMER, Otávio Fabro [UNESP]. Graffiti como meio: processo de criação entre sistemas – a lei, a rua, o mercado e a pesquisa em arte. 2013. FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. O grafite e a preservação de sua integridade: a pele da cidade e o droit au respect no direito brasileiro e comparado. Revista de Direito da Cidade, vol. 08, nº 4, p. 1348, 2016. HÄBERLE, Peter. La garantia del contenido essencial de los derechos fundamentales. Madrid: Dykinson, 2003. LARA, Arthur Hunold. Grafite arte em movimento. São Paulo: Dissertação – ECA/USP, 1996. PIRES, Elena Moraes; SANTOS, Fábio Alexandre dos. A cidade de São Paulo e suas dinâmicas: graffiti, Lei Cidade Limpa e publicidade urbana. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, vol. 26, 23 nov. 2018. RONCONI, Luciana. Governança Pública: um desafio à democracia. Emancipação, Ponta Grossa, 11 (1): p. 2134, 2011.
Capítulo 26 Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Urbano: Uma Abordagem Introdutória Grace Laine Pincerato Carreira
INTRODUÇÃO O patrimônio cultural é uma área multidisciplinar. Além de pertencer ao ramo do Direito da Cultura, integra, também, o Direito do Desenvolvimento, o Direito Urbanístico e Direito Ambiental. De acordo com art. 216 da Constituição Federal, o patrimônio cultural é formado por bens “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” e pode ser encontrado nas manifestações culturais, na arquitetura e nos conjuntos urbanos. Atualmente, o maior desafio do patrimônio cultural não é o restauro ou tombamento, mas a articulação do Patrimônio com as Políticas Públicas Urbanas. Para atender as demandas contemporâneas das cidades, faz-se necessário capacidade técnica do gestor para gerir o crescimento urbano de modo sustentável, fazendo uso dos instrumentos jurídicos existentes, soluções inteligentes e tecnológicas. Observa-se que falta nos municípios um projeto consistente de desenvolvimento urbano que, além de fatores como ocupação do solo, habitação, saneamento, mobilidade, considere também o patrimônio cultural e natural como fatores importantes para a qualidade de vida dos habitantes. Como suprimir essa lacuna? Vejamos. SUGESTÃO DE SOLUÇÃO O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL: ASPECTOS GERAIS Patrimônio tem origem latina de pater + mons, e significa acervo do pai. Para o direito civil, “representa o conjunto de bens, direitos e obrigações, economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa e considerados em sua universalidade”1. 1
SIDOU, J. M. Othon. Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 608.
318
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Consoante afirmação acima, explica Silvio Rodrigues: O patrimônio de um indivíduo é representado pelo acervo de seus bens, conversíveis em dinheiro. Há visceralmente ligada à noção de patrimônio, a idéia de valor econômico, suscetível de ser cambiado, de ser convertido em pecúnia2.
Nota-se pelo extrato acima que, para o sistema jurídico, a noção de patrimônio está intimamente atrelada a uma questão econômica. Apesar disso, todavia, tal concepção não pode ser vista como verdade absoluta, pois há bens que economicamente perderam o valor. Exemplo, um relógio quebrado, sem possibilidade de conserto, que um dia possuía alto valor monetário, mas, na atual situação, não passa de sucata. Esse objeto pode não ter valor financeiro, mas carrega um valor emocional que pode atravessar gerações. Com o tempo, o que era um objeto de uso corriqueiro no cotidiano pode retomar o valor econômico pela raridade ou por se representar uma dada época, isto é, por seu valor cultural e histórico. A historiadora Marly Rodrigues demostra outro sentido para o termo “patrimonium”. Destaca que além da referência à herança paterna, “há a raiz latina moneo, que significa levar a pensar”3. Assim, ao relacionarmos patrimônio e cultura podemos perceber um significado mais amplo: o “patrimônio cultural é uma herança que nos leva a pensar”4. Nesse contexto, incorpora-se ao patrimônio a ideia da memória, da lembrança, do pensar no que passou, individual ou coletivamente num dado espaço ou território. Em decorrência disso, a historiadora explica que a palavra “patrimônio” assumiu um amplo e variado significado ao longo da história. A partir dessa visão, conclui-se que hoje o patrimônio não se relaciona tão somente com a herança capital, representa também um dos vetores da memória da sociedade5 e, a partir da somatória desses legados, dessas lembranças e da transmissão deles de geração para geração, em qualquer suporte, constitui-se o conhecimento tradicional. Com a crescente complexidade da sociedade, a memória passou a ser vista como uma forma de reconhecimento de si mesma, como uma forma de integração ao cosmo, uma espécie de ponte entre o homem e o universo e não apenas uma forma de interesse pelo passado. Mais que entender a percepção de si mesmo, manter a experiência vivida passou a significar situar-se no mundo, 2 3
4 5
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil v. 1. Parte Geral. Cap. II, 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 117. RODRIGUES, Marly. Palestra Patrimônio Cultural e Memória, realizada no dia 20 de outubro de 2010 na Oficina da Palavra – Casa Mário de Andrade, São Paulo/SP. RODRIGUES, Marly. Op. cit. RODRIGUES, Marly. Palestra Patrimônio Cultural e Memória, realizada no dia 20 de outubro de 2010 na Oficina da Palavra – Casa Mário de Andrade, São Paulo/SP.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
319
estabelecer planos de continuidade, ligar a existência humana à natureza, ligar o presente ao conjunto dos tempos6.
Entretanto, conclui a historiadora: Usamos a expressão patrimônio cultural para designar toda a cultura, material e imaterial, produzida pelo conjunto da sociedade brasileira no decorrer de sua história; em sentido mais restrito, patrimônio cultural designa uma parte dessas mesmas manifestações, cujo valor foi reconhecido pelo poder público por meio de medidas legais de proteção, como o tombamento e o registro7.
O reconhecimento do patrimônio como algo ligado ora a uma herança pecuniária, ora a uma memória revela a necessidade de harmonização entre as concepções jurídica, econômica e histórica. A Constituição Federal de 1988 representou um avanço no campo dos Direitos Fundamentais, envolvendo em sua rede protetora os direitos individuais, coletivos, sociais, culturais, econômicos, entre outros. Cuida do patrimônio cultural o art. 216 da Constituição Federal, classificado por Francisco Humberto Cunha Filho como norma definidora, a qual “tem por objetivo explícito definir o que é patrimônio cultural”8. O legislador constituinte deu um passo importante, pois a tutela do patrimônio cultural é matéria de interesse universal. Segundo José Afonso da Silva, [...] cada país procura estabelecer normas de proteção desse patrimônio, porque nele se consubstancia e se reverencia a memória da formação nacional, que, por isso, se identifica com a própria nacionalidade. [...]. Essa preservação é tão importante que interessa à humanidade como um todo, pelo que os organismos internacionais tem promovido recomendações, acordos e convenções com tal objetivo.9
No Brasil, o instrumento jurídico mais conhecido é o Decreto-Lei 25 de 1937 que instituiu o tombamento. O art. 1º define o patrimônio histórico e artístico nacional como bens móveis ou imóveis “existentes no país e cuja conservação seja de interesse público quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”10. 6
8 7
9
10
RODRIGUES, Marly. Op. cit. RODRIGUES, Marly. Op. cit. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídico, 2000, p. 29. SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Editora Malheiros, 2001, p. 148. BRASIL. DECRETO – LEI 25 de 1937. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto -lei/del0025.htm.
320
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
O tombamento é o principal instrumento utilizado para preservação de diversos bens materiais. Trata-se de uma intervenção administrativa na propriedade que limita o direito de construir do proprietário. Em decorrência disso, o proprietário do bem afetado não pode mudar as características físicas sem anuência dos órgãos competentes. Essa limitação criou na sociedade a impressão de que o tombamento é um problema para o proprietário, que causa desvalorização do imóvel e, em razão disso, há resistência para adoção do Instrumento. Importante salientar que a redação do art. 1º do Decreto-Lei 25 está em desacordo com a intentio constitutionis e a interpretação que ainda se faz desse artigo deve ser superada, pois considera passível de tombamento apenas o bem cultural vinculado aos “fatos memoráveis e excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. A Constituição de 1988, art. 216, acompanhando as tendências manifestadas nas cartas e acordos internacionais, ampliou a ideia de patrimônio cultural como aqueles bens culturais “portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Nesse contexto, a conservação estática do patrimônio cultural cede espaço para a concepção dinâmica11 e outros instrumentos jurídicos passaram a tutelar de modo complementar o patrimônio cultural, conforme veremos a seguir. O patrimônio cultural é dos componentes do Direito Ambiental. A Lei nº 6.938/1981 dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e adota a concepção de meio ambiente como macrobem contemplando o natural e o cultural no sistema protetivo. A concepção do patrimônio em direito ambiental não exige necessariamente a propriedade: é um conjunto de bens cujo valor não é necessariamente econômico. Mesmo que possuam um valor venal, o patrimônio apresenta um interesse mais simbólico: histórico, artístico, cultural, científico, identidade e freqüentemente ambiental.12
Contudo, não obstante, compõe, também, o Direito Urbanístico uma vez que os documentos de planejamento devem integrar, em particular, a proteção dos monumentos históricos, seus arredores e áreas naturais sensíveis 11
12
SOARES, Inês Virginia Prado. Direito ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 58. GUILLOT, A. Philippe Ch. Droit Du Patrimoine Culturel et Naturel, 2017, p.13. Apud GROULIER, C. Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commum? 2005 p. 1035, original “la conceoptions du patrimoine en droit de l´environnement ne fait pas nécessairement appel à la propriété c´est un ensemble de biens dont la valeur n´est pas necessairemente economique. meme s´ils peveunt avoir une valeur venale, les biens patrimonialises presentent un interet plus symbolique: historique, artistique, culturel, scientifique, identitaire et souvent environnemental
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
321
e que as autorizações individuais de planejamento estão sujeitos a um regime específico.13
Assim, pois, temos uma proteção de um patrimônio que contempla o vínculo da coletividade com o território, as construções que formam a identidade arquitetural e a paisagem, seja rural ou um conjunto urbano. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu competência para legislar sobre o assunto a todos os entes da Federação. Em outras palavras, a União, Estado e Municípios têm competência para criar leis próprias para complementar a tutela do patrimônio cultural14. No tocante aos municípios, há previsão expressa de que devem promover a proteção do Patrimônio Cultural Local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual (art. 30, IX). Essa proteção, conteúdo, não se dá unicamente por meio do tombamento. O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO PARTE DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO O Direito entrou na perspectiva do Desenvolvimento como instrumento para a efetivação dos Direitos Humanos, cujo objetivo principal é a redução da pobreza. A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento proclamada no âmbito da ONU, em 1986, afirma que o Direito ao Desenvolvimento é um direito humano inalienável e a pessoa é sujeito central do desenvolvimento, devendo ser participante ativo e beneficiário do Desenvolvimento, tanto na perspectiva intrageracional como intergeracional, isto é, para as presentes e futuras gerações. Em artigo publicado na Revista Internacional de Direitos Humanos, Nwobike e Nwauche fazem uma análise sobre a implantação do Direito ao Desenvolvimento conceituando-o como Um processo específico que facilita e permite a realização de todas as liberdades e de todos os direitos fundamentais, ampliando a capacidade e a possibilidade básica das pessoas de gozar seus direitos. Não se pode igualar a um direito aos frutos do desenvolvimento, nem a soma dos direitos humanos existentes. Não se refere só ao fazer concreto dos direitos individuais, mas também, ao modo como tais direitos são concretizados.15 13
14
15
GUILLOT, A. Philippe Ch. Droit Du Patrimoine Culturel et Naturel, Paris: Ellipses, 2017, p.13. original: puisque les documentos de planification doivent integrer notamment la protection des monuments historiques, de leurs abords et des espaces naturels sensibles et que les autorisations individuelles d´urbanisme relèvent d´un regime specifique BRASIL. Constituição Federal do Brasil, artigo 24, VII. NWAUCHE, E.S. NWOKIKE, J.C. Implementação do Direito ao Desenvolvimento. Revista Internacional de Direitos Humanos. Argentina. Ano 2, nº 2, página 100. Disponível em: http://www.scielo.br/ pdf/sur/v2n2/a05v2n2.
322
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Atualmente, o conceito de Desenvolvimento foi ampliado para contemplar a sustentabilidade, pois o que não respeita o princípio da dignidade da pessoa humana não é sustentável. A Constituição Federal na perspectiva objetiva visa a proteção do núcleo essencial de direitos fundamentais, como a vida, a saúde, o meio ambiente equilibrado e a dignidade da pessoa humana16. Em 2015, a ONU aprovou nova resolução para Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um compromisso global ainda maior, que deve ser implantado em escala mundial até 2030. Denominado “Agenda 2030”, são 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas associadas. Pela primeira vez, o organismo internacional reconhece a cultura como parte do Desenvolvimento Sustentável, Sob essa ótica, a implementação do programa da UNESCO por meio da operacionalização das Convenções de Cultura da UNESCO sobre a salvaguarda e a promoção do patrimônio cultural e natural, das indústrias culturais e criativas, bem como dos programas em conjunto com outras agências da ONU e forte cooperação com as autoridades nacionais serão a chave para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável17.
Nessa perspectiva, A composição e os valores culturais presentes nos elementos que integram os conjuntos urbanos (quais sejam: lotes, edifícios, ruas, praças, bairros) estão inseridos em um contexto dinâmico, no qual as necessidades da comunidade são tratadas, muitas vezes, como necessidades prementes e imponderáveis. No entanto, as mudanças e adaptações para atendimento de tais necessidades devem sempre trabalhar com a hipótese de não destruição do bem cultural.18
Portanto, o patrimônio cultural passa a ser bem de interesse público e a cidade se torna um bem cultural. O DESEVOLVIMENTO URBANO COMO MEIO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL De acordo com a Fundação SEADE19, atualmente, a taxa de urbanização do Estado de São Paulo é de 96%. A perspectiva é de que até 2050, 77% da 16
17 18
19
Estão previstos no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, artigos 1º, inciso III; 3º, inciso II; 5º, parágrafo 2º; 170; 225. UNESCO. AGENDA 2030. Disponível em: encurtador.com.br/afLU9. SOARES, Inês Virginia Prado. Direito ao patrimônio cultural brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 91. Fundação SEADE, vinculada à Secretaria de Governo e um centro de produção de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
323
população do Estado estará concentrada em 85 municípios com mais de 100 mil habitantes20. Considerando o compromisso com a implantação das ODS e os dados publicados pelo SEADE, os municípios devem iniciar rapidamente as ações para atendimento das ODS. O art. 182 da Constituição Federal determina que a política de desenvolvimento urbano tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse sentido, o plano de direito tem grande importância, pois é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana21. A Política Urbana no Brasil está regulamentada no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar do cidadão, bem como do equilíbrio ambiental22. De acordo com ao art. 2º da Lei, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) I – garantia do direito a cidades sustentáveis (...) II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas (...) V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; (...) f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; (...) X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano (...) XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; (grifo nosso) XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos po20
21
22
SEADE. Disponível em: https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Conheca_SP_2019_ jan29.pdf. BRASIL. Constituição Federal. Art. 182 “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257/2001.
324
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
tencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; (grifo nosso)23
Esse diploma é obrigatório para cidades com mais 20 mil habitantes, cidades integrantes de regiões metropolitanas, entre outras. Nele, estão previstos instrumentos que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio cultural: o Plano de Diretor e as Leis Orçamentárias, a adoção de zonas especiais de interesse social e o estudo prévio de impacto de vizinhança. Prevê, ainda, o direito de preempção e a transferência ou alienação do direito de construir. O Plano Diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O objetivo é assegurar a função social da propriedade, atendendo as necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas24. Por qualidade de vida, entende-se o direito à cidade sustentável que respeite a relação do indivíduo e/ou grupo coletivo com o território (rua, quadra, bairro, cidade), manifestadas muitas vezes na história, arquitetura e práticas culturais. O Plano Diretor quando bem formulado pode ser instrumento eficaz para proteção do Patrimônio Cultural. Contudo, não é um diploma autoaplicável, isto é, requer a elaboração de leis locais e a lacuna legislativa inviabiliza muitas vezes a aplicação plena do Instituto. Há vários instrumentos institutos jurídicos e político, entre eles estão, por exemplo, o direito de preempção, a transferência do direito de construir e outorga onerosa. O direito de preempção assegura a preferência do poder público em adquirir imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares25. A outorga onerosa está prevista no Estatuto da Cidade e autoriza a fixação no Plano Diretor de áreas onde o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.26 Tal contrapartida pode ser destinada ao patrimônio Cultural, conforme art. 26 da mesma lei. A transferência do Direito de Construir é uma autorização ao proprietário do imóvel urbano, privado e público, a exercer em outro local o direito de construir quando referido imóvel for considerado necessário para fins de preservação, por se tratar de imóvel de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social e cultural. Muitos municípios no Brasil farão a primeira revisão do Plano Diretor e, por isso, a importância de suscitar esse tema para sensibilizar as autoridades políticas cidade. 23
25 26 24
BRASIL. Op. cit. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257/2001, artigos 39 e 40. BRASIL. Op. cit., art. 25. BRASIL. Op. cit., art. 28.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
325
CONCLUSÃO O tombamento como instrumento de tutela é importante para a proteção do patrimônio cultural, mas não pode ser o único instrumento. Importante salientar que o Tombamento contribuiu ao longo dos últimos 83 anos para a preservação de muitos bens materiais no Brasil todo. Cidades como Parati (RJ), Ouro Preto (MG) e São Luis Paraitinga (SP) são exemplos de cidades preservadas por meio do instituto. Entretanto, não é suficiente e deveria, inclusive, sem usado em último caso, pois seu uso afeta o bem envolvido e traz, em alguma medida, consequências ao proprietário. Por isso, necessário a conciliação do patrimônio cultural com o desenvolvimento urbano, a fim de melhor aproveitamento de todos os institutos e instrumentos existentes e com isso traçar políticas públicas para a defesa e preservação do patrimônio com mais eficiência e durabilidade. Isto posto, a revisão do Plano Diretor que ocorrerá em breve em diversos municípios é uma excelente oportunidade para serem inseridas no debate a implantação da Agenda 30 e, sobretudo, a proteção do patrimônio cultural e natural. Oportunidade para se pensar o Desenvolvimento Urbano a partir das pessoas, seguindo pelos espaços e por último nas construções, e não o contrário. Uma cidade para ser sustentável e inteligente precisa pensar primeiro nas pessoas e na relação destas com o território. REFERÊNCIAS BRASIL. DECRETO Nº 25 de 1937. BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. BRASIL. ESTATUTO DA CIDADE, Lei nº 10.257/2001. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídico, 2000, p. 29. FUNDAÇÃO SEADE. Disponível em: https://www.seade.gov.br/lista-produtos/. Acesso em: 20/01/2020. GUILLOT, A. Philippe Ch. Droit Du Patrimoine Culturel et Naturel, 2017, p. 13. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil v.1. Parte Geral. Cap. II, 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 117. RODRIGUES, Marly. Palestra Patrimônio Cultural e Memória, realizada no dia 20 de outubro de 2010 na Oficina da Palavra – Casa Mário de Andrade, São Paulo/SP. SIDOU, J. M. Othon. Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, 608p. SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Editora Malheiros, 2001, p. 148. SOARES, Inês Virginia Prado. Direito ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 58. UNESCO. Agenda 30 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/. Acesso em: 05/02/2020. WAUCHE, E.S. NWOKIKE, J.C. Implementação do Direito ao Desenvolvimento. Revista Internacional de Direitos Humanos. Argentina. Ano 2, nº 2, p. 100. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/sur/v2n2/a05v2n2. WEDY, Gabriel. O Direito Fundamental ao Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://www.conjur. com.br/2018-mai-26/ambiente-juridico-direito-fundamental-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 20/01/2020.
Capítulo 27 II Encontro Internacional de Direito Administrativo Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade: Cidades Inteligentes, Humanas, Sustentáveis e a Nova Agenda Urbana Renata da Rocha
I. INTRODUÇÃO As reflexões que seguem surgiram por meio de uma iniciativa inovadora do Grupo de Pesquisa de Direito Administrativo Contemporâneo do Programa MackCidades: direito e espaço urbano que, ao promover o II ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE: CIDADES INTELIGENTES, HUMANAS, SUSTENTÁVEIS E A NOVA AGENDA URBANA, nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro de 2019, na Cidade de São Paulo, oportunizou discussões acerca da temática CIDADES HUMANAS E INCLUSIVAS. Nas últimas décadas, houve um avanço importante no que diz respeito à inclusão e valorização da diversidade. No entanto, se por um lado algumas políticas públicas foram implementadas com propósito de promover essa inclusão, por outro, quando empregamos a expressão “inclusão”, de modo geral, tendemos a limitar o emprego do termo àquelas pessoas que possuem necessidades especiais, como, por exemplo, a questão de garantir acessibilidade àqueles que utilizam cadeira de rodas. Evidentemente que essa é uma demanda primordial para que se possa alcançar justiça social, bem-estar e respeito à dignidade humana. Contudo, não é precisamente esse o enfoque que motivou a presente pesquisa. Neste estudo, interessa, sobretudo, considerar a inclusão daqueles que, cada vez mais, nas grandes cidades, em virtude do advento da sociedade digital, possuem uma deficiência na capacidade de se relacionar de modo real, isto é, aqueles que apresentam uma perda da aptidão para a interação fora do ambiente virtual. Desse modo, pertinente é a compreensão que Luiz Alberto David Araújo tem de deficiência, conceituando-a nos seguintes termos: “O que define a
328
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar.”1 Nesse sentido, dados da Organização Mundial de Saúde2 em conjunto com pesquisas realizadas dentro e fora do Brasil3 informam que é justamente nas grandes cidades o locus onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, lugar onde as relações se dão muito mais no ambiente virtual, o espaço onde essas mesmas pessoas se sentem cada vez mais solitárias e, não por mera e coincidentemente, também esses são espaços onde se tem verificado um aumento expressivo de casos envolvendo transtornos psíquicos como ansiedade, depressão, pânico, déficit de atenção, entre outros, bem como um aumento estarrecedor no número de casos de suicídio. O presente estudo quer justamente pôr em relevo a relação direta que vem se estabelecendo entre conexão e solidão, seu impacto na saúde psíquica dos cidadãos, no bem-estar dos indivíduos, nas suas consequências jurídicas e na necessidade de iniciativas, ações, em última análise, de políticas públicas que possam ser implementadas a fim de se combater essa questão, propiciando através de práticas que promovam maior interação entre os indivíduos a construção de cidades mais humanas e inclusivas. II. JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO NO PROBLEMA O advento das redes sociais deu origem à sociedade digital presente no dia a dia das grandes cidades. Byung-Chul-Han em um importante estudo sobre a vida ativa dentro de uma sociedade digital revela que essa atividade consiste em um passar de dedos, isto é, o homo faber de Hannah Arendt foi substituído pelo homo digitalis e, consequentemente, a sociedade de massa foi substituída pela sociedade do enxame.4 A principal diferença entre elas é que “a massa não é volátil, a sociedade de massa é dotada de vontade, não constitui um elemento efêmero, ao contrário, ela pressupõe formações firmes”5. 1
2
3
4 5
ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. ed. Brasília: Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 2011. Disponível em: [http://www.pessoacomdeficiencia. gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/a-protecao-constitucionaldas-pessoas-com-deficiencia_0.pdf www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/a-protecao-constitucional-daspessoas-com-deficiencia_0.pdf]. Para cópia gratuita. Disponível em: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide. Disponível em: https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/3803-estudos-detalham-perfil-de-casos-de-suicidio-na-adolescencia-no-brasil. HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. São Paulo: Vozes, p. 60-62. HAN, Byung-Chul. Op. cit., p. 28-29.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
329
O autor refere que a sociedade de massa “... é quase como uma alma, unida por uma ideologia, a massa marcha em uma direção. Por causa da sua decisão e da sua firmeza dotadas de vontade, ela também é capaz de constituir um nós”.6 Já a sociedade digital dá origem aos enxames digitais. Eles não marcham. Eles se dissolvem com a mesma rapidez com que surgiram. O homo digitalis não se reúne. Byung-Chul Han destaca que “são estranhas à sociedade digital os espaços dos anfiteatros, dos estádios, das igrejas, que é a topologia que faz surgir o nós”7. Onde nos agregamos, onde congregamos, onde cumprimos o nosso destino enquanto seres gregários. A fluidez, a volatilidade e o anonimato são as características da sociedade digital. Tanto é assim que nas redes sociais não encontramos um rosto. O que as pessoas têm nas redes nas redes sociais não é uma identidade, o que elas criam e revelam é um perfil. Em razão disso acabam sendo capazes de uma identificação muito fraca com a comunidade. O que surge na sociedade digital é uma estrutura incapaz de desenvolver um sentimento de cuidado com o outro, um sentimento zelo para com o semelhante, para com o próximo e, sobretudo, para com a sociedade como um todo8. A empatia, virtude essencial na edificação de uma sociedade mais humana e inclusiva, se esvai. A falta de identificação engendra a desintegração generalizada que é característica da sociedade digital. Segundo Byung-Chul Han, nas redes sociais nós temos uma multidão composta por singularidades. Não existe um outro a ser considerado, porque na sociedade digital cada um olha para si mesmo, eis o fenômeno das selfs! Assim, o uso excessivo de equipamentos eletrônicos que mantém a todos conectados é justamente a causa da erosão do sentimento comunitário. O socius dá lugar ao solus, isto é, o social dá lugar ao solitário. Não é a multidão, mas sim a solidão que caracteriza a sociedade atual. Seus elementos constitutivos, segundo Byung-Chul Han, são: isolamento, autoexposição e hipercomunicação9. No que diz respeito especificamente à realidade interna, os brasileiros são campeões mundiais no uso de redes socais. Chegam a ficar seiscentos e cinquenta horas por mês conectados. Esse dado impõe a seguinte questão: como as pessoas estão se sentindo sozinhas se estão conectadas? Elas não estão se relacionando? O que significa conexão? Segundo o uso corrente da língua portuguesa conexão significa: 6
8 9 7
HAN, Byung-Chul. Op. cit., p. 28-29. HAN, Byung-Chul. Op. cit., p. 28-29. HAN, Byung-Chul. Op. cit., p. 22. HAN, Byung-Chul. Op. cit., p. 33.
330
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Ligação de uma coisa com outra; Relação de dependência; em que há lógica, nexo; coerência. Informática ligação entre computadores e dispositivos para que dados sejam transferidos: impressora sem conexão; conexão à internet. Momento da viagem em que há troca de meio de transporte: fui ao Rio com uma conexão em São Paulo. Eletricidade Ligação de uma corrente elétrica que se estabelece por contato; mecanismo ou aparelho que faz essa ligação. Hidráulico: Peça empregada para unir dois canos, dois tubos, dois fios.
Não há resultado para a palavra “conexão” que remeta a um tipo de relação de uma pessoa com a outra. Que signifique envolvimento humano. Numa relação eu/outro se transfere afeto, atenção, gentileza, respeito. Na ausência dessa troca de sentimentos e emoções, podemos inferir que quanto mais conectados talvez mais solitários. Outro destaque importante é que, dessas seiscentos e cinquenta horas por mês em média nas redes sociais, nos deparamos com uma constante segundo a qual a vida para a sociedade digital é uma festa. Todos são completamente felizes. É o retrato de uma sociedade hedonista, que vive para o prazer, que vive de aparências. Não há sofrimentos, frustrações, decepções. Para usar a expressão de Jean-Jacques Rousseau, a vida em sociedade engendra essa opacidade,10 e a vida na sociedade digital eleva essa mesma opacidade à enésima potência, porque, se todos estão sendo vistos o tempo todo, ninguém pode ousar ser o que de fato é. Jean Paul Sartre também já havia advertido que O inferno são os outros. Essa pressão por ter que demonstrar estar sempre feliz e bem-sucedido profissional e emocionalmente, por exemplo, tem contribuído significativamente para a formação do cenário que a seguir destacamos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão mundial de transtorno de ansiedade. É o quinto país do mundo em número de pessoas com depressão. O suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, e a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil11. 10
11
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, p. 60-62. O genebrino utiliza a opacidade como um dos males da vida em sociedade. Segundo ele, todos estamos constantemente preocupados com a opinião dos outros na vida social, de maneira que, se a sociedade valoriza alguns atributos pessoais ou alguns bens materiais e não os possuímos, teremos, para sermos aceitos pela sociedade, que fingir tê-los. Assim, ninguém ousa ser o que de fato é, todos aparentam ter ou ser algo que julgam importante para serem aceitos. De forma similar, Jean Paul Sartre tratou da questão na obra Entre quatro paredes, identificando que o olhar, o julgamento, a opinião do outro sobre mim é sempre um martírio. Dados da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Consulta pelo site do Senado Federal em 17.02.2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/a-cada-45-minutos-uma -pessoa-se-suicida-no-brasil-dizem-especialistas-na-cas.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
331
Os impactos jurídicos em termos de saúde pública precisam servir de alerta para despertar o incentivo de políticas com objetivo de enfrentar esse problema silencioso que cresce vertiginosamente. O conhecimento dessa realidade alarmante precisa ser difundido a ponto de propiciar a instituição de um amplo debate público que permita estabelecer um plano de combate a essa conjuntura, plano este que se consolide em medidas eficazes, que se mostrem capazes de tornar nossas cidades menos digitais e mais reais. III. OPÇÕES DE POLÍTICAS E PROPOSTAS O diagnostico que François Ost fez acerca do relacionamento do homem com a natureza é perfeitamente aplicável na presente situação12. O que vivenciamos hoje nas grandes cidades, por meio da sociedade digital, é o que o autor chama de “crise dos vínculos”. No século XX, perdemos a capacidade de reconhecer o que nos ligava ao meio ambiente. Agora, no século XXI, já não somos capazes de perceber o que nos une enquanto homens e mulheres, o que nos constitui enquanto humanidade. Sendo assim, uma política pública que tenha como objetivo promover a inclusão daqueles que atualmente apresentam essa deficiência no processo de interação com o outro, isto é, daqueles que apresentam uma perda na capacidade de se relacionar fora do ambiente virtual, precisa em última análise incrementar propostas que promovam o resgate daquele que talvez seja um dos traços mais característicos da nossa espécie, a nossa predisposição para nos reunirmos, afinal o homem é um animal político, já sabemos desde Aristóteles. Outro fator a ser considerado é que precisamos parar de querer nos blindar de todo sofrimento e frustração. Porque, segundo Charles Pépin, o sofrimento tem a capacidade de rasgar a nossa alma para fazer caber mais gente, mais humanidade, mais compaixão13 e isso faz da origem a uma cidade mais humana. Precisamos ser capazes de parar de valorizar quantos seguidores uma pessoa tem e voltar a ser uma sociedade que reconhece no fracasso uma virtude, porque a ausência de derrotas na vida nos priva talvez da possibilidade de afirmar nosso caráter, e de dar um sentido para a nossa existência14. Isso é humano e dessa humanidade pode brotar uma cidade mais inclusiva. 12
13
14
OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, p. 22, 1995. PÉPIN, Charles. As virtudes do fracasso. São Paulo: Estação Liberdade, 2018, p. 50. PÉPIN, Charles. Op. cit., p. 50.
332
Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (Org.)
Precisamos reaprender a enfrentar as dificuldades para fortalecer nosso espírito e afirmar a nossa perseverança, isto é, a capacidade que temos de manter vivas as escolhas que fizemos dentre de nós e por elas lutar15. Fica claro, então, que uma cidade mais humana e inclusiva é justamente o oposto da sociedade digital. Trata-se, pois, de uma sociedade analógica. Não por acaso a palavra “analógica” é um termo que remete à analogia, do grego, que quer dizer semelhante. Não é possível, no entanto, retroceder. Voltarmos à era analógica. Jean-Jacques Rousseau dizia que a felicidade estava um passo atrás, mas que não era possível regressar. Sendo assim, será preciso elaborar propostas sensíveis a essa realidade, que incentivem a utilização do ambiente digital como ferramenta capaz de nos aproximar de nossos semelhantes. Nesse sentido, quero apontar como modelo de ação inclusiva a iniciativa da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, presidida pela Doutora Lilian Regina Gabriel M. Pires, que promoveu, em maio de 2019, o primeiro Encontro sobre Mobilidade e Cidades Sustentáveis16. Essa primeira edição do evento revelou uma ação alinhada com o que defendemos até aqui, isto é, a utilização das redes sociais como instrumento para reunião de seus membros em ambientes reais, como uma ponte que permite, incentiva, convida à travessia do ambiente virtual para o espaço real, no qual se verifica a interação eu/outro, essencial para o bem-estar físico e psíquico dos indivíduos. Ao promover no dia 15.09.2019 a primeira jornada do “PEDALA OAB”, a comissão cumpriu brilhantemente com o seu papel, organizou o encontro no ambiente digital, ideal para motivar e mobilizar um grande número de participantes e, em seguida, convidou todos os integrantes da comunidade virtual a se reunirem fisicamente, em um domingo de manhã para, juntos, realizarem um passeio pelo centro histórico da cidade de São Paulo17. Ações como essa precisam se tornar modelos de políticas públicas nas grandes cidades, precisam entrar para o calendário público dos grandes municípios se quisermos, de fato, construir cidades mais humanas e inclusivas. 15 16
17
PÉPIN, Charles. Op. cit., 41. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/noticias/2019/08/semana-da-mobilidade-na-oab-sp-buscaconscientizar-sociedade-sobre-impacto-da-crise-climatica. Segundo a Presidente da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, Dra. Lilian Regina Gabriel M. Pires, “A Comissão de Direito Urbanístico tem por objetivo disseminar o conhecimento relativo ao direito urbanístico; Capacitar profissionais da área jurídica para se relacionar com a sociedade civil, instituições públicas e mercado, na defesa da ordem urbanística e da qualidade de vida; Promover o diálogo saudável na defesa da cidade de forma a torná-la mais humana e justa; Democratizar a compreensão sobre a política urbana; Fomentar discussões sobre temas relacionados à cidade; Apresentar protagonismo nas discussões relacionadas à cidade; Atuar para incentivar a efetividade de políticas públicas; Colaborar para o desenvolvimento de melhores práticas administrativas”. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-urbanistico.
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
333
IV. CONCLUSÃO São muitos os desafios quando nos propomos a refletir acerca de cidades inteligentes, humanas, sustentáveis e inclusivas. Destacamos neste estudo o aspecto da inclusão sob um ponto de vista que ainda é desconhecido por muitos, o aumento considerável de transtornos psíquicos em virtude do uso desmedido das redes sociais, uso este que se verifica mais intensamente nas grandes cidades e que resvala numa incapacidade para se relacionar fora do ambiente virtual. Alertamos que essa incapacidade vem alcançando níveis cada vez mais preocupantes, dado o crescente índice de transtornos psíquicos que envolvem não apenas males como a depressão, a ansiedade e o pânico, entre outros, como também e de forma recorrente a prática de suicídio. Apontamos para a necessidade do estabelecimento de políticas públicas que promovam a integração entre o virtual e o real, entre a sociedade digital e a sociedade analógica, a fim de facilitar a interação entre esses dois ambientes. Destacamos a iniciativa de uma entidade, qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, que por meio de uma de suas comissões, Comissão de Direito Urbanístico, empreendeu e inovou com muito êxito nesta temática, mostrando que é possível não só unir o mundo virtual com o real, como também é possível, principalmente, reunir a sociedade digital com o que aqui convencionamos chamar de “sociedade analógica”, propiciando relações mais humanas, mais vivas, mais completas, mais verdadeiras, mais reais e inclusivas.
O desenvolvimento urbano é pauta de discussão mundial e junto dele temos a realidade da era das TIC – tecnologia da informação –, que apresenta um plexo de novidades, comodidades e desafios a serem superados. Um dos temas urgentes e importantes da atualidade se relaciona com a compreensão daquilo que se intitulou como Cidades Inteligentes e é essencial adentrar nesse debate para discutir a cidade que queremos, a concreta participação popular na tomada de decisão e quais os marcos regulatórios com potencial para incentivar a Administração Pública a estabelecer relações jurídicas efetivas e úteis para implementar mudanças capazes de otimizar e melhorar a vida na cidade. Junto disso é necessário disseminar a importância do valor intrínseco nos dados pessoais e necessidade de sua proteção frente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Com esse olhar, a presente obra se propõe a trazer provocações, análises e sugestões de temas relevantes e que podem ser úteis para a implementação de políticas públicas, com o olhar prático e preocupado em tornar nossas cidades humanas, igualitárias e sustentáveis.
AUTORES Alessandro Soares Alexandra Fuchs de Araújo Ana Carla Bliacheriene Ana Flavia Messa Andrea Martinesco Antonio Cecílio Moreira Pires Caio César Lazare Gabriel Carlos Vilas Boas Debora Sotto Eduardo Stevanato Pereira de Souza Fábio Ramazzini Bechara Flávio de Leão Bastos Pereira
Gilberto Perez Grace Laine Pincerato Carreira Irene Patrícia Nohara Isabel Celeste M. Fonseca Jônatas Ribeiro de Paula José Police Neto Juliana Abrusio Leandro Piquet Carneiro Leonardo Guandalini Franchi Lilian Regina Gabriel Moreira Pires Marcelo Chiavassa de Mello P. Lima Marcos Cesar Weiss
Maria Helena Zucchi Calado Marília Gabriel Moreira Pires Michelle Barreto Venturini Nelson Saule Jr. Olívia de Quintana Figueiredo Pasqualeto Paula Monteiro Danese Rafael de Oliveira Costa Rangel Perrucci Fiorin Renata da Rocha Stella He Jim Kim
ISBN 9786586138474
9 786586 138474