SABERES, SUJEITOS E POLÍTICAS
TEMAS EMERGENTES EM DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE

AUTORES
Ariane Favareto
Karina de Paula Carvalho
Layssa Maia
Liara Farias Bambirra
Rodrigo Kummer
Sarah Luiza de Souza Moreira
Vicente Carvalho Azevedo da Silveira
Victor Marchesin Corrêa
Victória Batistela Silva Rodrigues


SabereS, SujeitoS e PolíticaS
Temas emergentes em desenvolvimento, agricultura e sociedade
A produção do livro teve apoio financeiro do CPDA/UFRRJ via recursos Capes
LEONARDO BELINELLI PRISCILA DELGADO DE CARVALHO (OrganizadOres)
SabereS, SujeitoS e PolíticaS
Temas emergentes em desenvolvimento, agricultura e sociedade


Belo Horizonte 2024
CONSELHO EDITORIAL
Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal
André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães
Antônio Rodrigues de Freitas Junior
Bernardo G. B. Nogueira
Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Carlos Bruno Ferreira da Silva
Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler
Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho
Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos
Edson Ricardo Saleme
Eliane M. Octaviano Martins
Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto
Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes
Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida
Gustavo Corgosinho
Gustavo Silveira Siqueira
Herta Rani Teles Santos
Jamile Bergamaschine Mata Diz
Janaína Rigo Santin
Jean Carlos Fernandes
João Relvão Caetano - Portugal
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
José Octávio Serra Van-Dúnem - Angola
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Paulo Roberto Coimbra Silva
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Sergio André Rocha
Sidney Guerra
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire
É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora. Impresso no Brasil | Printed in Brazil
Arraes Editores Ltda., 2024.
Coordenação Editorial:
Fabiana Carvalho
Produção Editorial e Capa: Imagem de Capa: Revisão:
Danilo Jorge da Silva
Magic Creative (Pixabay.com)
Fabiana Carvalho
338.10981 Saberes, sujeitos e políticas: temas emergentes em S115 desenvolvimento, agricultura e sociedade / [organizado 2024 por] Leonardo Belinelli [e] Priscila D. Carvalho. Belo Horizonte: Arraes Editores; Seropédica (RJ): Edur, 2024. 176 p.
ISBN: 978-65-5929-467-1
ISBN: 978-65-5929-465-7 (E-book)
1. Agricultura. 2. Agricultura familiar. 3. Cana-de-açúcar – Cultura. 4. Política alimentar – Brasil. 5. Desenvolvimento extrativista. 6. Agroecologia. I. Belinelli, Leonardo (Org.). II. Carvalho, Priscila D. (Org.). III. Título.
CDD (20. ed.) – 338.10981
Elaborada por: Fátima Falci CRB/6-700
Matriz
Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000
Tel: (31) 3031-2330
Filial Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé São Paulo/SP - CEP 01006-000
Tel: (11) 3105-6370
www.arraeseditores.com.br arraes@arraeseditores.com.br
Belo Horizonte 2024
ARIANE FAVARETO
Doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). Esse artigo apresenta parte dos resultados obtidos durante a elaboração da tese de doutorado, defendida em outubro de 2019 sob o título: Dinâmicas rurais contemporâneas e configurações sociais de gênero. A realização da pesquisa contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Atualmente é pesquisadora colaboradora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). E-mail: a.favareto@uol.com.br.
KARINA DE PAULA CARVALHO
Economista pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ); Mestra em Desenvolvimento, Planejamento e Território pela UFSJ; Doutoranda no Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ). Email: depaulacarvalhokarina@gmail.com.
LAYSSA MAIA
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Bolsista Capes. layssarma@gmail.com.
LIARA FARIAS BAMBIRRA
Educadora Popular e Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
(CPDA/UFRRJ), titulação em 2022 com o mesmo título. A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq). E-mail: liarabambirra@hotmail.com.
RODRIGO KUMMER
Doutor em Ciências Sociais (CPDA-URFFJ, 2019). Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Francisco Beltrão. E-mail: rodrigokummer@utfpr.edu.br. Pesquisa financiada pelo CNPq.
SARAH LUIZA DE SOUZA MOREIRA
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Bolsista Faperj. sarahluiza1982@gmail.com.
VICENTE CARVALHO AZEVEDO DA SILVEIRA
Mestre em Ciências Sociais pelo CPDA/UFRRJ (fomento: CNPq e Faperj Nota 10), Professor Substituto no IFF Itaperuna, aquario.vicente@gmail.com.
VICTOR MARCHESIN CORRÊA
Doutorando em Ciência Política no IFCH/Unicamp e mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: victormarchesin@ufrrj.br
VICTÓRIA BATISTELA SILVA RODRIGUES
Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). Atualmente doutoranda no mesmo programa. Pesquisadora vinculada à linha de pesquisa “Terra, poder e território”. Agência de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: victoriabatistela@gmail.com
SuMário
CapítulO 1
A EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA O CENTROOESTE: PARA ALÉM DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA CULTURA CANAVIEIRA
Victor Marchesin Corrêa ............................................................................................ 1
CapítulO 2
O LUGAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SOCIEDADE BRASILEIRA: UM OLHAR PARA A DIMENSÃO POLÍTICA
DOS ALIMENTOS E PARA A POLÍTICA ALIMENTAR E RURAL NO BRASIL
Karina de Paula Carvalho ........................................................................................ 23
CapítulO 3
CAMPANHAS POLÍTICAS DE SOLIDARIEDADE: MOVIMENTOS SOCIAIS E DOAÇÃO DE ALIMENTOS NA PANDEMIA DE COVID-19
Vicente Carvalho Azevedo da Silveira ...................................................................... 41
CapítulO 4 PARA ALÉM DO DESENVOLVIMENTO EXTRATIVISTA: RESISTÊNCIAS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS A PARTIR DO TERRITÓRIO-CORPO-TERRA
Liara Farias Bambirra .............................................................................................. 65
CapítulO 5 AS DINÂMICAS RURAIS CONTEMPORÂNEAS
PROPORCIONAM NOVAS POSSIBILIDADES PARA AS MULHERES? UMA ANÁLISE DO APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADES EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA
Ariane Favareto .........................................................................................................
CapítulO 6
AGROECOLOGIA E CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO: DIÁLOGOS ENTRE SABERES ACADÊMICOS, PRÁTICAS E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS
Sarah Luiza de Souza Moreira; Layssa Maia ..........................................................
CapítulO 7 PERCEPÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS E CIÊNCIAS NA EXPERIÊNCIA ZAPATISTA
Victória Batistela Silva Rodrigues .............................................................................
CapítulO 8 REPRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E MIGRAÇÃO DE JOVENS RURAIS NA REGIÃO OESTE DE SANTA CATARINA
Rodrigo Kummer ........................................................................................................
aPreSentação
REPENSANDO TEMAS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE
Este livro traz textos que discutem temas centrais para as conexões entre sociedade, política, agricultura e modelos de desenvolvimento, em capítulos produzidos por discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A publicação dos artigos na forma de livro é fruto do empenho do programa em estimular a prática de divulgação das pesquisas discentes, que dão vida ao trabalho do CPDA e contribuem, cotidianamente, para a continuidade e renovação das questões e abordagens com os quais trabalhamos.
Conforme aponta o título do livro, o desafio de alinhavar a diversidade de trabalhos aqui reunidos foi respondido com a identificação de três grandes eixos – saberes, sujeitos e políticas. É bem verdade que essa organização deixa outras questões importantes de fora do título, mas ela mostra sua força quando se percebe que há também sobreposições dos temas em diversos capítulos que, ao entrecruzarem discussões, revelam abertura à complexidade dos fenômenos contemporâneos. É esta divisão apresentada no título do livro que nos orienta na apresentação de tais reflexões.
No primeiro eixo, o das políticas, estão reunidas pesquisas que trazem debates sobre modelos de agricultura e as políticas que engendram. Compõe esse eixo o trabalho de Victor Marchesin Corrêa, que discute a expansão da cana-de-açúcar para o centro-oeste buscando um olhar que vai além dos aspectos técnicos e incorpora questões econômicas, políticas e culturais vinculadas à reconfiguração territorial da cana-de-açúcar a partir dos anos 2000. Já a agricultura familiar comparece no artigo de Karina de Paula Carvalho, que discute o seu lugar na sociedade brasileira a partir de políticas públicas da área
de alimentação e segurança alimentar, sem deixar de se referir ao que chama de “dimensão política dos alimentos”. Já a agroecologia é tema de diferentes capítulos, enquanto dá nome ao texto “Agroecologia e construção coletiva do conhecimento: diálogos entre saberes acadêmicos, práticas e metodologias participativas”, de Sarah Luiza de Souza Moreira e Layssa Maia. O trabalho, dedicado à análise da construção e do uso de duas metodologias, as Cadernetas Agroecológicas e a Avaliação Econômica-Ecológica dos Agroecossistemas-Lume, é um bom exemplo de como estão presentes no livro, de forma integrada, discussões sobre modelos de agricultura, sujeitas políticas e construção de conhecimento – nesse caso via metodologias participativas.
Na interseção entre a produção de alimentos e os sujeitos que agem, Vicente Carvalho Azevedo da Silveira revisita um período específico e desafiador da história recente, a pandemia da Covid-19, mostrando como dois movimentos organizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro construíram uma teia de relações políticas e econômicas por meio de duas campanhas de doação de alimentos. O autor busca entender justamente o papel dos alimentos em cada uma das campanhas, bem como os vínculos criados a partir deles.
Os sujeitos coletivos aparecem também em outros enfoques. A juventude está presente na reflexão feita em “Reprodução da agricultura familiar e migração de jovens rurais na região oeste de Santa Catarina”, de Rodrigo Kummer, capítulo que articula permanências e rupturas em relação a um conjunto de expectativas desenvolvidas em torno da sucessão geracional no território. Já as mulheres, que já estavam no foco do texto de Moreira e Maya mencionado anteriormente, voltam ao lume no trabalho de Ariane Favareto. Interessada no lugar das mulheres nas dinâmicas rurais contemporâneas, a pesquisadora examina fenômenos como a intensificação de atividades não agrícolas como principais fontes de renda e como mulheres aproveitam oportunidades em um município do interior paulista, deslocando foco das unidades produtivas para os sujeitos. Na interseção entre sujeitas, resistências e conhecimentos, Liara Farias Bambirra estuda a Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales e coloca em questão o modelo de desenvolvimento extrativista minerador na América Latina e as afetações diferenciadas aos territórios-corpos-terras. Com este capítulo, entramos no terceiro eixo organizador do livro, centrado na questão da produção de saberes por comunidades e grupos nos territórios rurais, no Brasil e além. Também compõe esse conjunto o artigo “Percepções sobre conhecimentos e ciências na experiência zapatista”, de Victória Batistela Silva Rodrigues, que nos leva ao movimento de indígenas localizado no sudeste mexicano para explorar como se relaciona com conhecimentos científicos e aqueles que produz, por meio da análise de textos zapatistas, e dos encontros que promovem.
Como se percebe, por diferentes caminhos, os textos perpassam debates sobre reprodução e transformação social, políticas públicas, movimentos sociais, teorias feministas, estudos da ciência e tecnologia. Desse modo, articulam as cinco linhas de pesquisa do CPDA atualmente, a saber: Estudos de cultura e mundo rural, instituições, mercados e regulação, Conflitos, movimentos sociais e representação política, Políticas públicas, Estado e atores sociais, Natureza, ciência e saberes e, por fim, Terra, poder e território.
Neste momento, em que o CPDA está prestes a chegar aos 50 anos – a ser completados em 2025 –, esperamos que os temas tratados contribuam para os esforços de observar o presente e o futuro do mundo rural e de suas interações constitutivas com os territórios urbanos, sem deixar de articular os questionamentos e aprendizados acumulados ao longo das trajetórias de políticas, ativismos e pesquisas.
OS ORGANIZADORES
caPítulo 1
a exPanSão da cana-de-açúcar
Para o centro-oeSte:
Para aléM doS aSPectoS
técnicoS da cultura canavieira
Victor Marchesin Corrêa
INTRODUÇÃO
Desde o início da década de 2000, pode ser observado um vertiginoso crescimento na produção brasileira de cana-de-açúcar, tanto em hectares de área plantada quanto em toneladas de cana, impulsionado, especialmente, pela inclusão dos veículos flexfuel no mercado automotivo nacional e pela emergência do etanol enquanto uma solução viável à crise climática e ao problema da emissão de gases de efeito estufa (GEE) a partir da queima de combustíveis fósseis.
Esse contexto provocou uma reorganização territorial da produção canavieira nacional, como será demonstrado a seguir, que materializou uma expansão da cultura nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Tal fato não é novidade para a literatura acadêmica especializada e já foi debatido nos trabalhos de Szmrecsányi et al. (2008), Shikida (2013) e Marques (2017), todavia a grande maioria dos trabalhos que se debruçam sobre o tema focam demasiadamente nos aspectos técnicos da produção canavieira para explicar o porquê desse avanço para o Centro-Oeste.
Entende-se por aspectos técnicos aqueles fatores que influenciam diretamente no crescimento da cana-de-açúcar e possibilidade de seu cultivo, como por exemplo a qualidade do solo, o tipo de relevo e as condições edafoclimáticas de uma determinada região. Tais são elementos indiscutivelmente fundamentais para a expansão do cultivo, visto que seria impossível deslocar a produção para áreas em que a espécie seria incapaz de sobreviver. No entanto, isso poderia apenas dar os limites territoriais possíveis para a instalação de uma cultura, sendo insuficiente para explicar os contornos do processo no caso concreto. O que pretendo demonstrar aqui é que há outros fatores
determinantes para essa dinâmica que merecem ser analisados e levados em consideração, tendo em vista uma compreensão mais aprofundada e assertiva desse fenômeno.
Desse modo, analisamos aqui aspectos econômicos, políticos e culturais da reconfiguração territorial da cana-de-açúcar a partir dos anos 2000, buscando demonstrar como a dinâmica concorrencial do mercado sucroenergético, bem como a recomposição dos atores desse campo, impactaram diretamente no crescimento da cultura nos estados do centro-oeste brasileiro.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações teóricas iniciais a respeito das transformações e dinâmicas econômicas. Partimos aqui da Teoria dos Campos de Bourdieu (1983; 1989; 2005) e das contribuições de Fligstein (2001) e Fligstein e McAdam (2012) para compreender o mercado sucroenergético enquanto um campo econômico. Isso significa entendê-lo como uma arena social de disputa, dotada de uma estrutura assimétrica de relações de poder, de modo que todo campo seria composto por uma dinâmica mais ou menos estruturada por uma tensão permanente, decorrente da ação de dominantes e dominados que, ainda que em conflito, compartilham uma série de regras de conduta e representações que impedem o campo de se desintegrar. (CORRÊA, 2023, p. 2)
De acordo com Bourdieu (1983), os campos são estruturas objetivas que decorrem da distribuição desigual das diversas formas de capital entre os agentes que participam de um grupo de atividades semelhantes e interrelacionadas. A estrutura de cada campo e suas particularidades depende da forma como são distribuídos os capitais em seu interior e a consequente possibilidade dos atores sociais de produzirem regras que favoreçam suas posições. Nesse sentido, todo campo é, fundamentalmente, um espaço de conflito e disputas (Op. cit., 1983).
Fligstein (2001), por sua vez, contribuiu para essa abordagem adicionando que todo campo se reproduz no tempo a partir da construção de instituições estáveis que organizam as relações em seu interior. Sendo assim, alterações na distribuição dos capitais no interior de um campo ou em seu arranjo institucional podem acarretar transformações em sua dinâmica econômica e, por vezes, territorial. As quatro instituições fundamentais de um campo econômico para Fligstein são os direitos de propriedade, as estruturas de governança, as regras de troca e as concepções de controle1 – essa última se referindo à cultura e referenciais simbólicos que organizam a interpretação do comportamento dos demais agentes do campo e dão sentido às ações sociais. Assim sendo, é sobre essas quatro instituições fundamentais do campo sucroenergético que se debruça a análise aqui apresentada.
1 Ver Fligstein (2001), capítulo 1.
A RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR E A EXPANSÃO PARA O CENTRO-OESTE
Até os anos 1940, o Nordeste era o centro da atividade canavieira e Pernambuco e Alagoas, os principais produtores. Essa situação se transforma na década seguinte seguindo o que Celso Furtado denominou como “movimento de deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira para o sudeste”, processo no qual a industrialização nacional e o incremento tecnológico – que se concentram na região – altera os fatores de dinamismo econômico do país (FURTADO, 1962), consolidando, assim, o protagonismo do estado de São Paulo na atividade. É através dos recursos do Proálcool, nas décadas de 1970 e 1980, que a cana-de-açúcar espalha, ainda que timidamente, suas raízes pelos planaltos Central e Meridional (MARQUES, 2017).
De acordo com Marques (2017), a expansão da cana-de-açúcar durante os anos 1970 e 1980 se deu principalmente pelo fortalecimento da produção em territórios tradicionalmente canavieiros (com destaque para o interior paulista), e apenas residualmente em lugares sem tradição com a cultura, mas que se encontravam próximos às regiões produtoras e contavam com farta disponibilidade de terras, como Mato Grosso do Sul e Goiás. Com efeito, “os estados que mais se destacaram na absorção de recursos do Proálcool foram: SP (36,0%), MG (10,3%), AL (8,1%), PR (7,9%), GO (7,2%), PE (7,1%), MT (3,2%), RJ (3,0%), PB (2,7%) e MS (2,5%)” (SHIKIDA, 1997, p. 84).
Isso porque o desenho do mercado sucroenergético desse período e dos programas setoriais voltados a ele exprimem relações de poder e influência política diretamente ligadas à posse da terra e ao prestígio tradicionalmente atrelado à atividade canavieira. Não por acaso o estado de São Paulo é o território mais favorecido pelo programa. A exemplo, Moreira (2013) cita a família Ometto (importante usineira do interior paulista) como peça-chave da elaboração do Proálcool, estando diretamente ligada à sua implementação. Usineiros de Pernambuco e Alagoas eram capazes de acessar recursos públicos (de maneira indevida) para o financiamento de suas atividades através de relações pessoais estabelecidas com funcionários de altos cargos do Instituto do Açúcar e do Álcool (BRASIL, 1977). Isso põe em evidência o caráter patrimonialista da relação entre usineiros e Estado no Brasil, manifestando o poder historicamente consolidado da elite canavieira nacional em sua influência política e na apropriação de recursos públicos.
Mapa 1
Área plantada com cana-de-açúcar nas microrregiões brasileiras, 1973 a 2018
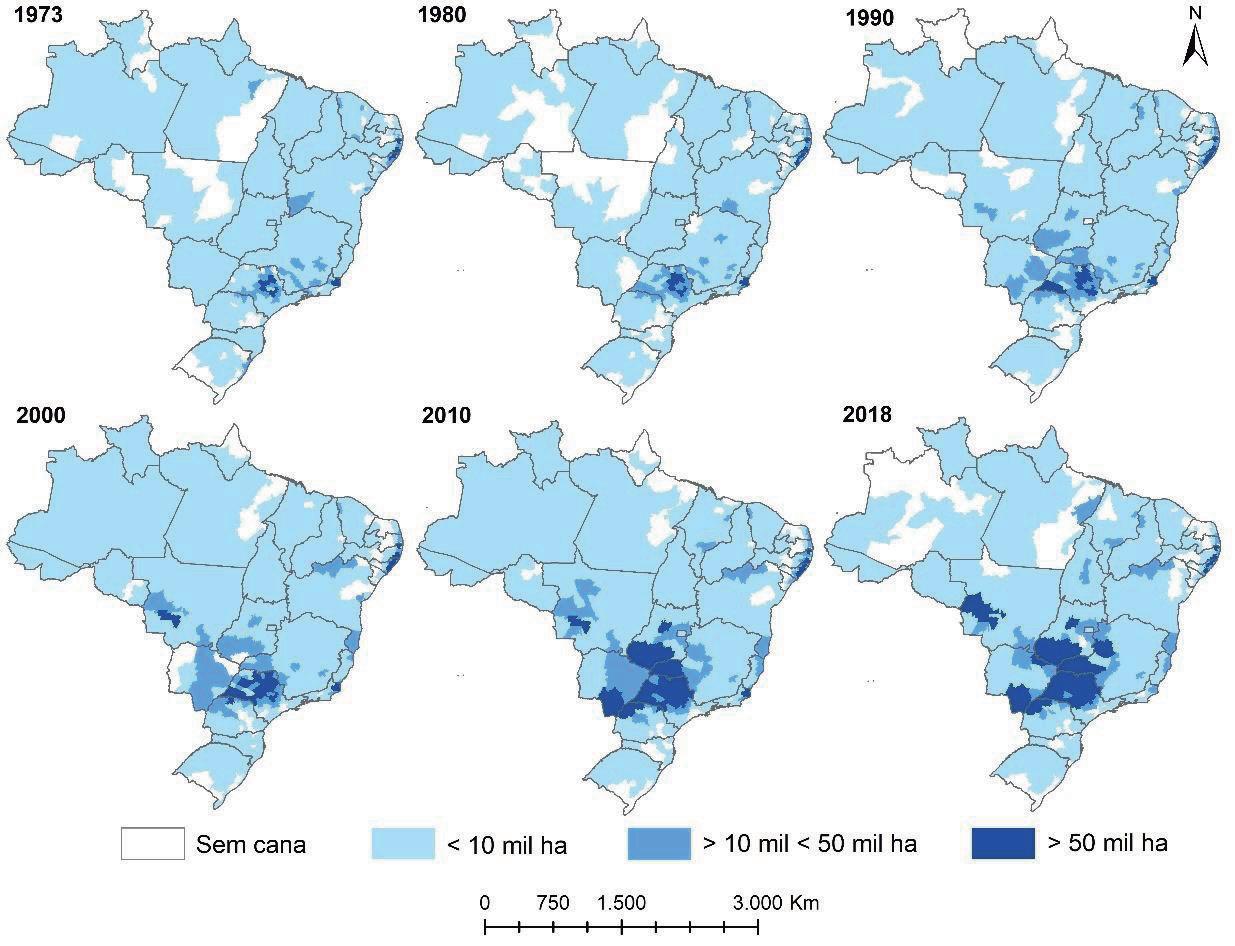
Fonte: PAM-IBGE e GEMAP. Elaboração de Valdemar Wesz Jr.
Os dados do GEMAP fornecem elementos interessantes para pensarmos a reconfiguração espacial da produção sucroenergética, a partir das informações da PAM-IBGE. Como podemos verificar no mapa 1, a cana-de-açúcar amplia significativamente sua presença no Centro-Sul brasileiro entre 1973 e 2018, especialmente na região que contempla o oeste paulista, triângulo mineiro, sul e sudeste goiano e o sudoeste de Mato Grosso do Sul. Chama atenção que essa expansão territorial se faz com a diminuição da produção canavieira na Zona da Mata nordestina e na região dos campos no Rio de Janeiro, regiões tradicionalmente açucareiras e importantes produtoras até o início dos anos 2000. Esse elemento nos faz analisar o fenômeno não enquanto uma simples expansão do mercado sucroenergético, mas como uma reconfiguração de sua disposição territorial.
Nesse caso, é particularmente relevante a topografia de baixa declividade, necessária à mecanização da colheita de cana. Isso porque tanto a Zona da Mata nordestina quanto a região canavieira do Rio de Janeiro são territórios acidentados, impróprios para o corte mecanizado. Um contexto de moderni-
zação tecnológica, intrinsecamente atrelado aos custos de produção das usinas, levou a uma diminuição da participação dessas regiões na produção nacional total, pari passu o aumento do Centro-Sul, como fica evidente na tese de Ana Maria Soares de Oliveira (2009).
Marques (2017) identifica que é a partir da inclusão dos motores flexfuel no mercado automobilístico brasileiro, em 2003, que se dá o impulso para o mais recente ciclo expansionista do setor sucroenergético nacional, que se materializa em seu crescimento nos estados do centro-oeste. Soma-se a isso um ciclo de elevação nos preços das commodities agrícolas e minerais e as perspectivas otimistas de crescimento do setor, atreladas à emergência do etanol enquanto solução sustentável para as questões energéticas e climáticas no debate internacional.
Em linhas gerais, a produção canavieira nacional experimenta um crescimento da ordem de 91,18%, entre 2003 e 2020, em termos de quantidade produzida – alcançando seu pico em 2016, com um valor absoluto de 768.594.154 toneladas de cana (IBGE, 2024). Para o mesmo período, é observado um incremento de 86,44% na área colhida de cana, em hectares (Op. cit., 2024). A diferença percentual entre as duas taxas nos sugere um ganho de produtividade por hectare inferior a 5% durante os 17 anos considerados, o que indica um crescimento pautado majoritariamente em um modelo de expansão horizontal, à revelia dos ganhos de eficiência decorrentes de avanços tecnológicos. Esse indicativo, entretanto, necessita ser verificado a partir de outros dados, uma vez que as taxas podem ser impactadas pelo aumento da produção em terras de menor qualidade, o que pressionaria diretamente uma queda na produtividade média da cultura.
O Centro-Oeste brasileiro acompanha a tendência nacional do setor, experenciando um crescimento vertiginoso da área ocupada com cana a partir de 2006, como pode ser observado no Gráfico 1. Sua taxa de crescimento médio anual, de 9% entre 2003 e 2020, em comparação com a média nacional de 4% ao ano, evidencia um movimento da cana-de-açúcar brasileira em direção aos estados da região, os quais ocupam um lugar de destaque nesse processo. Para os casos de Goiás e Mato Grosso do Sul, as taxas médias anuais de crescimento da área colhida de cana são das ordens de 12% e 11%, respectivamente (IBGE, 2022).
Gráfico 1
Área colhida (em ha) de cana-de-açúcar no Centro-Oeste, 1990 a 2020

Fonte: PAM-IBGE. Elaboração do autor.
Goiás é o estado que apresenta o crescimento mais acentuado da atividade canavieira entre as unidades da federação da região. O desenvolvimento do seu Complexo Canavieiro, como mostram os dados coletados, não se dá de maneira homogênea no território goiano, mas através da formação de microrregiões especializadas, onde a ocorrência do cultivo de cana-de-açúcar é mais presente.
Mapa 2
Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Goiás em 1990, 2000, 2010 e 2020

Fonte: PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.
Podemos perceber um fortalecimento da cultura canavieira no sul do estado, principalmente nas microrregiões de Quirinópolis, Sudeste Goiano, Meia Ponte e Vale do Rio dos Bois; mais ao norte a região de microrregião de Ceres também apresenta uma produção significativa, ainda que em menor grau. Em termos gerais, o estado apresenta um aumento de quase 500% na produção canavieira entre 2003 e 2020, chegando a ultrapassar os 1000% quando referente ao intervalo 1990/2020, e é – no momento – a principal fronteira agrícola do complexo canavieiro brasileiro.
O que fica evidente, ademais, é o movimento de concentração pelo qual passa a agricultura canavieira goiana, uma vez que, até 2010, é possível verificar a presença da cana-de-açúcar na grande maioria dos municípios do estado, ao passo que ao final de 2020 a presença da cultura se restringe às regiões de maior ocorrência. Isso se deve a fatores endógenos e exógenos ao mercado sucroenergético.
Primeiramente, podemos inferir uma tendência de concentração da atividade canavieira, centrada nas localidades próximas às unidades processadoras, dinâmica essa intrínseca ao setor e bem analisada em Pinheiro (2015). Outrossim, essa tal concentração pode ser impactada pela competição por terras dos diversos setores do agronegócio, a exemplo da produção de soja, milho e sorgo – três culturas muito presentes no estado goiano e que experienciaram um forte crescimento na última década. O crescimento dessas culturas avança pelo cerrado goiano e incorpora territórios em que a presença canavieira é fraca, ou simplesmente residual.
A competição com outras culturas é um elemento central da expansão canavieira em Goiás e tem sido mencionado pela literatura especializada, porém cabe salientar que as divergências em relação ao tema nos fazem tratá-lo com o devido cuidado. Apesar de a narrativa dominante, propagada pelo setor e por alguns trabalhos acadêmicos – como é o caso de Oliveira (2011) –, reiterar que o crescimento da cana tem se dado majoritariamente através da incorporação de áreas de pastagens degradadas e, portanto, não competindo com outras culturas, alguns trabalhos apresentam análises contestatórias que evidenciam a disputa por terras no contexto goiano. Nassar et al. (2008) concluíram, a partir de uma matriz de competição entre produtos, que há concorrência entre soja e cana, milho e cana e também desta última com pastagens não degradadas em Goiás. A partir disso, Castro et al. (2010) indicam que o que se assistiu foi a substituição maciça de culturas anuais, em especial a soja, pela produção canavieira.
Isso fica evidente no caso do município de Rio Verde, no qual o então prefeito (em 2006), pressionado pelos produtores de soja, sancionou uma lei que limitava o plantio de cana em apenas 10% do território municipal, numa tentativa de preservar a diversificação da economia local (RIO VERDE, 2006).
A lei, entretanto, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de
inconstitucionalidade, evidenciando o papel do Estado como agente regulador do mercado e de suas condições de existência, como preconizado por Bourdieu (2005) e Fligstein e McAdam (2012).
No caso do Mato Grosso do Sul, a produção canavieira percebe um aumento de 430% na quantidade de cana produzida (em toneladas). Esse aumento, assim como no caso goiano, se deu a partir da formação de territórios de especialização produtiva do complexo canavieiro, com destaque para a microrregião de Dourados.
Mapa 3
Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Mato Grosso do Sul em 1990, 2000, 2010 e 2020
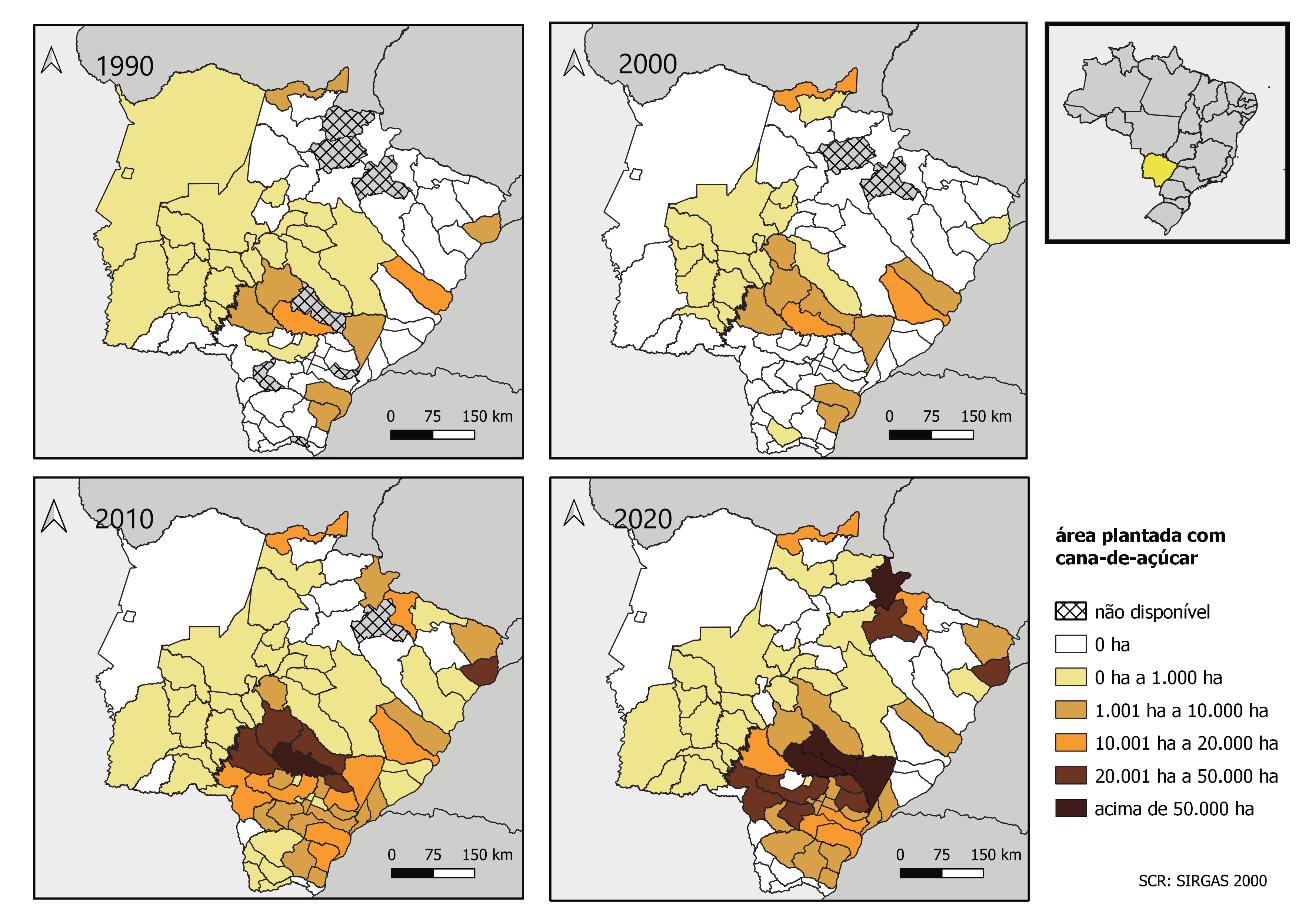
PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.
De maneira parecida com Goiás, verificamos que o movimento de expansão, que faz com que a cana alcance em algum grau a maioria dos municípios sul-mato-grossenses em 2010, se transforma num movimento de concentração da atividade canavieira em territórios especializados. Inferimos isso uma vez que a retração – no ano de 2020 – do número de municípios produtores não é acompanhada por diminuições no total de área plantada ou de cana produzida (IBGE, 2022).
Em Mato Grosso do Sul, a cana-de-açúcar encontra, para além de condições edafoclimáticas favoráveis e topografia conveniente à mecanização da colheita, uma estrutura fundiária altamente concentrada que propicia a formação do
latifúndio canavieiro. De acordo com Souza (2021), do Instituto Socioambiental (ISA), o coeficiente de Gini da estrutura fundiária sul-mato-grossense é o segundo maior do Brasil, atestando 0,84, atrás apenas da Bahia. Trabalhos como Ramos (1999) e Szmrecsányi et al. (2008) já apontavam para a íntima relação entre agroindústria sucroenergética e a grande propriedade fundiária no Brasil. Essa característica se mostra de suma importância no caso sul-mato-grossense, cuja formação agrária está diretamente ligada à pecuária extensiva em grandes extensões rurais.
Gráfico 2
Quantidade produzida de cana-de-açúcar por grupo de área em MS (participação no total), 2017
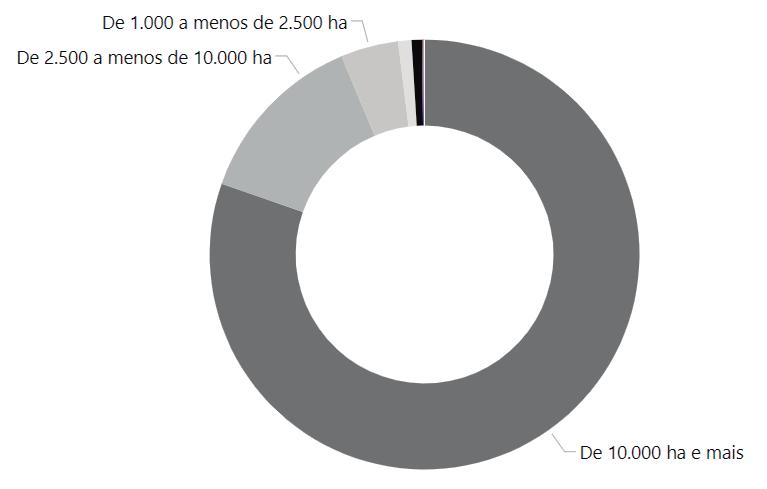
Fonte: Censo Agropecuário (2017). Elaboração do autor.
Os dados do último Censo Agropecuário, de 2017, mostram que os estabelecimentos com área acima de 10 mil hectares são responsáveis pela produção de 80% de toda a produção canavieira do estado de Mato Grosso do Sul. Juntamente com os estabelecimentos que detêm entre 2.500ha e 10.000ha, às áreas de latifúndio são imputados 93,6% de toda cana-de-açúcar colhida no estado (IBGE, 2017).
Entre os três estados do Centro-Oeste, Mato Grosso é o que apresenta um complexo canavieiro menos pujante, sendo o único entre eles a perceber uma diminuição da participação da cana-de-açúcar no total da área agrícola estadual ao longo das décadas, que passou de 2,68% em 1990 para 1,55% em 2020. Essa diminuição relativa, todavia, não se reflete em um decréscimo dos valores absolutos da produção canavieira do estado, que passou de pouco mais de 3
milhões de toneladas em 1990 para 20.800.469t em 2020 (aumento relativo de 585%) (IBGE, 2024).
Mapa 4
Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Mato Grosso em 1990, 2000, 2010 e 2020
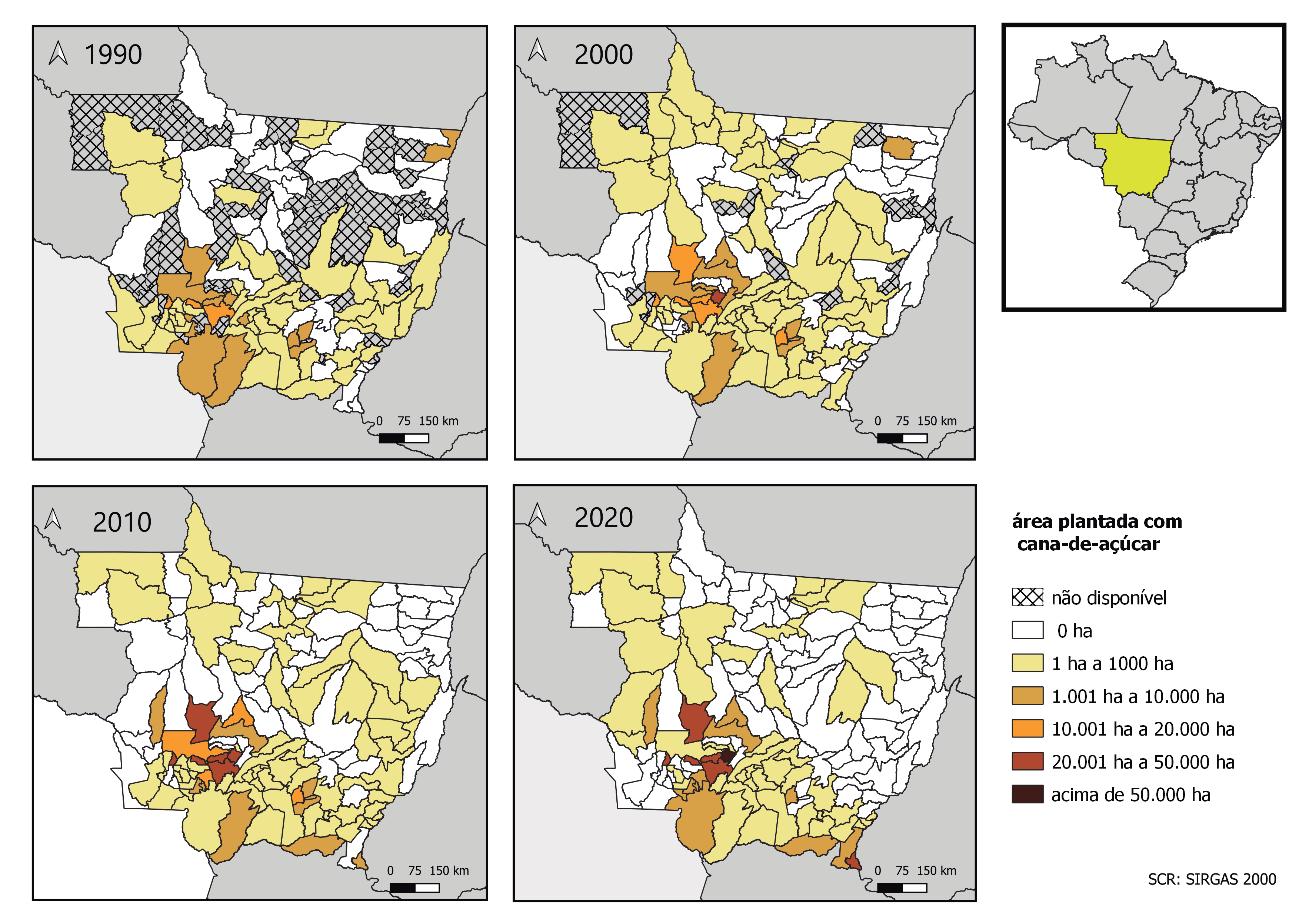
Fonte: PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.
Mato Grosso tem se destacado nas últimas duas décadas enquanto uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil e um dos mais relevantes polos de atração de investidores ligados ao agronegócio. O avanço do desmatamento da Amazônia e da ocupação de terras devolutas no norte do estado tem incorporado uma enorme área ao mercado de terras agrícolas, ajudando a formar um horizonte de expansão da agricultura atrelada a uma oferta crescente de terras agrícolas a baixo custo, cujos efeitos têm sido expressivos. Entre 2006 e 2017, o estado observou um incremento de mais de 6,2 milhões de hectares em sua área total agricultável, fruto da incorporação de novas terras, contando agora com quase 55 milhões de hectares disponíveis à agropecuária (IBGE, 2006; 2017).
De modo a organizar a expansão canavieira e dar uma resposta aos questionamentos internacionais sobre o impacto ambiental do crescimento do setor, o governo brasileiro realizou, em 2009, o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (MANZATTO, 2009) com o objetivo de regular a presença da cana no território nacional de modo a proteger biomas sensíveis – como a Amazônia e o Pantanal. Os próprios dados do ZAE-Cana questionam o
argumento que diz que a cultura canavieira se expandiu para o centro-oeste devido à qualidade propícia dos solos dos planaltos Central e Meridional. Isso porque, segundo a pesquisa, podemos observar que a maioria das terras do Centro-Oeste não apresenta alta aptidão para o cultivo da cana.
Tabela 1
Quantidade de terras (em ha) com aptidão Alta, Média e Baixa para o cultivo de cana-de-açúcar nas UFs MT, MS e GO, 2009
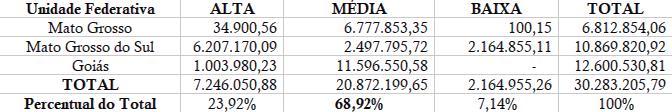
Fonte: Manzatto (2009). Elaboração do autor.
É necessário pontuar que os dados expostos na tabela dizem respeito apenas às áreas aptas à produção canavieira segundo os parâmetros estabelecidos pelo Zoneamento, exprimindo um determinado referencial sobre o que se considera uma produção eficiente para os padrões contemporâneos. Nesse sentido, a pesquisa levou em conta a declividade dos terrenos, numa perspectiva de condições de mecanização da colheita, aptidão agrícola do solo e aptidão edafoclimática das regiões, considerando, por exemplo, incidências de chuva e riscos de geada (MANZATTO, 2009). Podemos perceber que o centro-oeste brasileiro, como um todo, possui mais de dois terços das terras (aptas) com aptidão média à cultura canavieira. Em termos absolutos, os números são significativos, uma vez que a região possui quase a mesma quantidade de terras de alta aptidão que o estado de São Paulo. Todavia, considerando se tratar de um território já ocupado com atividades agrícolas e por populações rurais e indígenas, não se pode inferir que a expansão canavieira se dê exclusivamente sobre as terras de maior aptidão – é preciso considerar que esse movimento compreende também terras de menor qualidade. Portanto, não se pode considerar a qualidade do solo como único elemento definidor da reconfiguração espacial da cana-de-açúcar. Parte da literatura especializada aponta como principais determinantes dessa expansão a disponibilidade de terras agrícolas e seus baixos preços, bem como a saturação das tradicionais áreas de cultivo em São Paulo e no Nordeste (CASTRO et al., 2010; OLIVEIRA; 2009; MARQUES, 2017; SHIKIDA, 2013). Complementarmente, Fernandes et al. (2011) também reiteram a expansão ocorria em terras contíguas às regiões produtoras, aproveitando as características edafoclimáticas e infraestrutura logística.
A escassez de áreas para o crescimento da agroindústria sucroenergética em São Paulo pressiona o preço da terra e, consequentemente, o custo de seu arrendamento, tornando mais onerosa a produção de matéria-prima pela indústria e fazendo-a competir com as demais unidades processadoras da região, por vezes limitando a oferta de cana para a moagem, por vezes elevando sobremaneira seus custos (OLIVEIRA, 2009; SHIKIDA, 2013). Nesse cenário, a expansão horizontal para terras contíguas e de menor custo de arrendamento se torna uma estratégia promissora. Esse é um ponto fundamental elencado por um dos entrevistados, ex-funcionário dos grupos USJ e Cosan e que participou de projetos de implantação de usinas no Centro-Oeste. O informante aponta também para o cuidado em selecionar regiões que não contassem com outras unidades instaladas ou em vias de instalação, tendo em vista manter o baixo custo de arrendamento dos territórios e evitar a competição entre unidades.
Outro fator levado em consideração diz respeito à infraestrutura logística e sua consequente capacidade de escoamento da produção. No caso da Usina São Francisco (do grupo SJC Bioenergia), o município de Quirinópolis (GO) foi escolhido por, além de atender às expectativas edafoclimáticas, possibilitar o escoamento do produto final através do Rio Paranaíba, alcançando, assim, os mercados consumidores de São Paulo. Ademais, esperava-se, a partir de uma localização privilegiada em Goiás, fazer o abastecimento das regiões Norte e Nordeste, de acordo com o mesmo informante, tendo em vista que o polo sucroenergético nordestino é fundamentalmente especializado na produção açucareira. A declividade do território passa a ser um elemento relevante à medida que avança a mecanização das colheitas e as regulamentações sobre as queimadas, alterando dimensões importantes da dinâmica produtiva do setor sucroenergético. Regiões com terras mais planas, propícias à utilização de colheitadeiras, se tornam progressivamente mais atraentes ao agronegócio canavieiro, que enxerga na substituição do corte manual uma importante estratégia para a diminuição dos custos de produção e para o fortalecimento de sua imagem de atividade econômica sustentável. Ainda assim, é necessário considerar o afastamento da região em relação aos centros de consumo nacional (e também em relação aos portos brasileiros, tendo em vista a expectativa de comoditização do etanol nas décadas de 2000 e 2010). Como apontado por outro entrevistado pela pesquisa, o mercado consumidor do Centro-Oeste é incapaz de absorver a produção sucroenergética local, de modo que os custos logísticos da região deveriam atuar de maneira a desestimular a expansão da cultura.
Isso posto, avaliamos que o Centro-Oeste brasileiro, por suas características topográficas, começa a ganhar centralidade nas estratégias de expansão das empresas do setor, em um contexto de necessidade de ampliação da produção. No entanto, outros fatores precisam ser considerados para explicar satisfatoriamente o processo.
A ENTRADA DE NOVOS AGENTES ECONÔMICOS E A RECONFIGURAÇÃO DO CAMPO SUCROENERGÉTICO
É preciso pontuar que o desenvolvimento histórico do setor sucroenergético nacional se mistura ao fortalecimento de elites agrárias regionais, as quais congregavam – em decorrência do latifúndio e da oligopolização da terra – poder político e influência, inclusive para garantir a manutenção de benefícios e de interesses próprios junto ao Estado, em seus diferentes níveis. Disso resultou uma estrutura setorial cujos grupos dominantes eram bem delimitados e atuavam localmente, em suas zonas de controle e influência, como é o caso dos grupos Cosan e São Martinho em São Paulo, ou os grupos Tavares de Melo e Carlos Lyra no Nordeste. Essa configuração se altera justamente a partir dos anos 1990 (e mais intensamente com a passagem para o século XXI) devido à abertura econômica e desregulação setorial ocorrida, em conjunto com o boom de investimentos ligados à promessa de transição energética já mencionada anteriormente, o que altera a estrutura do campo sucroenergético com a entrada de diversos agentes internacionais na produção canavieira.
Podemos identificar um processo intenso e agressivo desses grandes grupos estrangeiros em sua expansão na atividade canavieira para o Centro-Oeste, com a aquisição de diversas unidades na região. Em 2008, a Bunge adquire a unidade Monteverde, Ponta Porã, ao passo que a British Petroleum (BP) se torna acionista da usina Tropical, em Goiás. Essa última, em 2011, também incorpora a Usina Itumbiara, no município de mesmo nome. BP e Bunge, em 2019, se unem para formar a joint venture BP Bunge Bioenergia e, congregando 11 unidades produtivas no território nacional, fazer frente à expansão da Raízen, grupo líder no setor.
O grupo argentino Adecoagro, do investidor George Soros, tem uma presença mais tímida e, ainda assim, detém duas usinas em Mato Grosso do Sul (ADECOAGRO, 2022), ao passo que a Cargill se expande para o Centro-Oeste a partir da formação de uma joint venture com o grupo paulista USJ, a SJC Bioenergia, com duas unidades no sul goiano (MARQUES, 2017). Segundo o site da própria USJ, um dos objetivos da joint venture é transformar o sul do estado em um polo de produção de alimentos e energia renovável (USJ, 2022), o que demonstra a estratégia de formação de clusters de produção em territórios de expansão canavieira.
O grupo Louis Dreyfus, através da LDC Bioenergia, adquire, em 2007, todas as unidades produtivas do grupo alagoano Tavares de Melo (que se retira da produção sucroenergética), que detinha no estado de Mato Grosso do Sul as unidades Maracajú, na cidade de mesmo nome e a Passa Tempo, em Rio Brilhante, e inaugura (no ano seguinte) a unidade Rio Brilhante, no mesmo município. A subsidiária, após se fundir com o Santelisa Vale em 2009, se
transforma em Biosev e constitui o segundo maior grupo do setor naquele momento (MUNDO NETO, 2012).
Fica evidente o papel das multinacionais na expansão canavieira para o Centro-Oeste. Mesmo os tradicionais grupos paulistas, ao se expandirem para novas regiões, o fazem em aliança com esses novos atores do mercado. Assim como a parceria entre USJ e Cargill, o grupo São Martinho – importante e tradicional produtor de açúcar e álcool de São Paulo – se une à Petrobrás Biocombustíveis (PBio) para a construção de seu projeto greenfield em Quirinópolis, a Usina Boa Vista, através da joint venture Nova Fronteira (MUNDO NETO, 2012). As duas empresas dividiram a participação acionária da subsidiária até 2016, momento em que a PBio anuncia sua retirada da produção de biocombustíveis no país e vende sua posição para a São Martinho, que passa a ser a única proprietária da unidade (PETROBRÁS, 2016).
O grupo Cosan é, entre os grupos dominantes do mercado, aquele que apresenta a estratégia mais agressiva de expansão. Sua abertura de capital bem-sucedida, pioneira entre as empresas do setor, complementada com a parceria com o grupo Shell e o aporte milionário da petrolífera na Raízen (COSAN, 2010), alavancaram o potencial do grupo para levar a cabo um projeto agressivo de aquisição de suas concorrentes no estado de São Paulo, aproveitando como nenhuma outra os ganhos de escala e vantagens comparativas em uma das mais privilegiadas regiões canavieiras do país, o que pode ser verificado em Bellentani (2015). Ainda assim, a Raízen não fica de fora desse movimento para o Centro-Oeste e, em 2009, inaugura duas novas plantas industriais na região.
Em 2022, a Raízen firmou a aquisição da concorrente Biosev, segunda maior produtora do país, e com isso incorpora também as unidades da segunda em Mato Grosso do Sul. Congregando agora 33 unidades processadoras, é o maior grupo do mercado sucroenergético nacional. Com a venda, o grupo Louis Dreyfus Commodities se retira do setor e a joint venture BP Bunge Bioenergia passa a ser a principal concorrente da Raízen.
Outra empresa relevante na região Centro-Oeste e que deve ser mencionada é a Atvos, controlada do grupo Odebrecht para produção de bioenergia, que se insere no mercado sucroenergético pautada numa estratégia de fixação nas áreas de expansão canavieira.
Conforme declaração do Diretor Estratégico da ETH Bioenergia [antigo nome da Atvos], os projetos foram pensados para constituírem polos produtivos, nos quais todas as unidades estariam próximas umas das outras. Desse modo, a região do Pontal do Paranapanema foi escolhida para constituir o primeiro cluster e os outros dois, respectivamente no sul de Goiás e na região de Rio Brilhante/MS. Assim, o Grupo Odebrecht inicia seus passos na agroindústria canavieira elegendo também as atuais áreas em expansão no Centro-Sul, particularmente situada no polígono do agronegócio; considerando além do
mercado consumidor, as condições de logística e também estratégicas, legitimando assim o uso das terras griladas do Pontal do Paranapanema, das terras férteis da bacia do Paraná, bem como a possibilidade de usufruto das potencialidades do Aquífero Guarani (OLIVEIRA, 2009, p. 116).
A empresa leva adiante seu plano a partir da incorporação, em 2011, do grupo BRENCO, que se estabelecera no mercado a partir do desenvolvimento de projetos greenfields em áreas de expansão canavieira, tornando-o o negócio perfeito para os projetos do grupo Odebrecht. Com a fusão o grupo totaliza nove unidades de processamento, formando um importante cluster no sudoeste goiano (e regiões de fronteira do MS e MT) e na microrregião de Rio Brilhante (MS).
Ainda que chame atenção o movimento de fusões e aquisições e reestruturações societárias que levaram a um aumento da concentração do setor em torno de poucos agentes com alto grau de capitalização no Centro-Oeste brasileiro, devemos pontuar a importância dos vários projetos greenfield que se instalaram na região, contribuindo para a ampliação e modernização do parque produtivo regional. Das 17 usinas hoje em operação no estado de Mato Grosso do Sul, 11 foram construídas após 2003; Mato Grosso, que conta atualmente com 16 unidades, teve 9 construídas a partir de 2003; já Goiás, que conta com 32 usinas em seu território, teve 18 construídas na esteira do último ciclo expansionista (SAPCANA, 2022). Esses dados foram obtidos do Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira (SAPCANA), do MAPA, e checados a partir das informações disponibilizadas nos sites dos próprios grupos proprietários das unidades.
O complexo canavieiro sul-mato-grossense é, sem dúvida, o mais concentrado nas mãos dos grandes grupos dominantes do mercado. Entre suas 17 unidades de processamento, nove são controladas por algum dos grupos anteriormente mencionados (compreendendo 52% do complexo), sendo três da Atvos, duas da Adecoagro, uma da BP Bunge e três da Raízen. Em Goiás, a concentração é menor e podemos observar alguns grupos regionais mais fortalecidos, como o grupo Vale do Verdão (que detém três usinas no estado). No segundo estado, a Atvos conta com mais três unidades, BP Bunge com duas, SJC com duas, São Martinho com uma, Raízen com uma, totalizando nove usinas de 32 presentes no estado – uma concentração de 28,1%.
Observamos, também, alguns grupos nordestinos como o Grupo Farias e o grupo Japungu (com três e duas unidades, respectivamente), que se mantiveram desde a migração nos anos 1990 para o estado de Goiás, o que mostra que o complexo canavieiro goiano se manteve mais competitivo ao longo dos anos e foi capaz de garantir a sobrevivência de uma parcela maior de seus atores sociais. As razões para a diferenciação do setor nos dois estados e as respectivas condições de sobrevivência das empresas são matérias interessantes para investigações futuras sobre o complexo canavieiro.
O parque produtivo de Mato Grosso se diferencia radicalmente dos demais. Apesar de ser menor, com 16 unidades processadoras de cana-de-açúcar, é o único que apresenta a instalação de novas usinas em um período recente, uma vez que nos demais estados do Centro-Oeste a última inauguração de uma nova planta industrial se deu em 2013. Esse crescimento recente é puxado pelo otimismo acerca do etanol de milho, que tem ganhado espaço na região. As usinas denominadas “flex”, que se utilizam tanto do milho quanto da cana para processar o etanol, e usinas que operam exclusivamente com o cereal, são responsáveis pela totalidade dos empreendimentos instalados a partir de 2017 em Mato Grosso. Dos grandes grupos sucroenergéticos do país, apenas a Atvos, com uma unidade em Alto Taquari, está presente no estado, que em geral demonstra um complexo industrial sucroenergético menos concentrado – no qual prevalecem grupos menores e mais novos, como a FS Agrisolutions e Inpasa Bioenergia, e algumas cooperativas que se mantiveram ao longo das décadas, casos da Coperb e Copródia (SAPCANA, 2022).
Tem-se então uma caracterização do complexo canavieiro do centro-oeste brasileiro e os principais atores nele integrados. Oliveira (2009) e Mundo Neto (2012) demonstram, detalhadamente, como os novos grupos presentes na atividade canavieira vão, aos poucos, direcionando seus investimentos para os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás ao longo das últimas duas décadas, transformando a região na principal fronteira de expansão do setor, atualmente. A entrada de grandes multinacionais do agronegócio tem um impacto relevante no processo, uma vez que, como aponta Mundo Neto, os “quatro grandes grupos econômicos internacionais [ADM, Bunge, Cargill e LDC], gradativamente transferiram suas unidades de processamento para a região Centro-Oeste, acompanhando a migração da cultura da soja da região Sul-Sudeste” (2012, p. 131-132), demonstrando a complexidade do fenômeno e a dificuldade analítica de isolar o objeto de um ambiente mais amplo que compreende o agronegócio brasileiro e a questão agrária da região Centro-Oeste.
O que se extrai é que a entrada de novos atores é causa e efeito das transformações pelas quais passa o setor sucroenergético nacional. A desregulamentação setorial dos anos 1990, ao desestabilizar as relações econômicas e sociais que sustentavam a atividade canavieira nacional, abre espaço para a entrada de novos agentes econômicos suficientemente grandes para alterar as relações de poder dentro do campo e reposicionar as empresas dominantes. Esses grupos trazem consigo novas concepções de controle, nos termos de Fligstein (2001), novas estratégias e também possibilidades diferentes de ação, como redes de contatos com outros grupos estrangeiros, acesso a mercados internacionais de crédito e de capitais, de modo que alteram os padrões de comportamento e o contexto concorrencial do campo sucroenergético. Soma-se a isso a grandeza dos investimentos desses grupos internacionais, dado seu alto grau de capi-
talização, que fez com que os grupos menores tiveram que se aglutinar para garantir um cenário de competição e sobrevivência, pressionando o setor para um movimento de concentração.
Vemos, portanto, que as características institucionais do mercado sucroenergético são fundamentais para sua configuração territorial. Enquanto este era rigidamente regulado pelo Estado, os arranjos político-institucionais estabelecidos garantiam a sobrevivência das empresas através do controle direto sobre a oferta, os preços e os investimentos. A expansão da atividade canavieira se dava majoritariamente através do fortalecimento local de elites regionais, que ampliavam o controle sobre seus territórios de influência. Dessa forma, mantinham-se grupos econômicos relativamente pequenos e territorialmente delimitados.
Uma vez que tomam forma as mudanças no mercado sucroenergético a partir da década de 1990, muito bem analisadas por Vian (2001), as características físicas do território (principalmente topográficas, dada a perspectiva de mecanização e eliminação das queimadas para que o etanol preservasse uma imagem de biocombustível limpo) passam a ganhar maior centralidade nos cálculos econômicos dos agentes que disputam por vantagens comparativas em um cenário concorrencial mais acirrado e agressivo.
Fligstein (2001) identificada que a entrada de grupos externos em um determinado campo econômico (ou mercado) é um importante vetor de mudanças institucionais e estruturais. Nesse sentido, a entrada dos grupos invasores – termo utilizado pelo autor – no setor ratifica e aprofunda essa nova relação com a terra, posto que a concepção do espaço enquanto território de influência política, memória e tradição que caracterizava as elites regionais não é compartilhada por grupos multinacionais que concebem a terra exclusivamente enquanto fator de produção, orientando sua expansão territorial a partir de seu custo, produtividade e potencial de valorização. Com isso, tem-se uma passagem de um modelo de expansão canavieira intrarregional para outro direcionado às fronteiras agrícolas da cana-de-açúcar, notadamente nos territórios mais cobiçados pelo agronegócio nacional contemporâneo.
Finalmente, podemos inferir que o fenômeno que caracterizamos como expansão canavieira para o Centro-Oeste é complexo e multidimensional. Muitos são os determinantes dos movimentos descritos, desde as políticas setoriais às concepções mais básicas dos agentes econômicos sobre as características de sua atuação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, evidenciamos que se concretizou, de fato, uma expansão da cultura canavieira para os estados do centro-oeste brasileiro e que essa expansão possui características peculiares, principalmente devido aos agentes
econômicos presentes e às transformações no contexto geral do setor sucroenergético nacional a partir do movimento de desregulamentação e abertura que se iniciou nos anos 1990.
Como demonstrou Vian (2001), a desregulamentação setorial instaurou um novo contexto concorrencial no setor, mais competitivo, em que os custos de produção passaram a ocupar um papel central na sobrevivência das empresas. Nesse sentido, aquilo que chamamos de “aspectos técnicos da produção canavieira” de fato ganham maior relevância à medida que permitem às empresas aproveitar sinergias e aumentar os ganhos de escala e, consequentemente, suas margens de lucro. Especialmente a topografia, na medida em que possibilita a mecanização do corte da cana, é um fator determinante para a expansão para o Centro-Oeste.
O ciclo expansionista que atingiu o Centro-Oeste marca uma mudança na dinâmica territorial da cana-de-açúcar, com a passagem de um crescimento intrarregional – pautado no fortalecimento de elites locais – para uma expansão horizontal voltada para a captura de novas terras em territórios de fronteira ou em que a presença canavieira era incipiente. Isso se deu, como vimos, a partir de dois elementos fundamentais: a saturação de regiões tradicionalmente canavieiras em São Paulo – com a decorrente elevação dos custos de arrendamento e de aquisição de matéria-prima – e a entrada novos, e significativos, agentes econômicos na atividade sucroenergética.
As multinacionais que entraram na atividade sucroalcooleira nos anos 2000 tiveram um papel fundamental no crescimento do complexo canavieiro nos estados do Centro-Oeste, especialmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, como observamos na realização de projetos greenfields e no forte movimento de fusões e aquisições que ocorreram no espaço de tempo analisado. Essa entrada marca uma mudança de estratégia de crescimento empresarial responsável pela alteração na mencionada dinâmica territorial do setor. Uma entrada que introduz também novas concepções acerca do espaço não mais visto como território de controle e influência política, mas como puro e simples fator de produção e ativo financeiro. Nesse sentido, é interessante investigar o papel da especulação financeira e imobiliária no interesse pelas terras agrícolas do Centro-Oeste.
Como bem observou Mundo Neto (2012), tais multinacionais optaram por aproximar seus negócios, direcionando os investimentos da produção canavieira para regiões de maior pujança das cadeias internacionais de commodities onde já se encontravam sua produção de soja e milho, como são os exemplos dos grupos Adecoagro e Bunge. Com isso, tem-se que a expansão canavieira foi, em alguma medida, orientada pelas cadeias produtivas de grãos e reclamou seu espaço nesse território que é percebido como o ponto focal do agronegócio brasileiro. Este elemento, a influência dos atores internacionais
na reconfiguração territorial da cana-de-açúcar, é a contribuição central a que se pretende este trabalho, colaborando para o entendimento do fenômeno à luz da sociologia econômica e dando contornos à participação dos agentes econômicos, suas representações e perspectivas, nessa dinâmica.
Não se pode deixar de considerar, também de extrema relevância, a estrutura fundiária preexistente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás para o desenvolvimento da atividade canavieira. Isso porque a cana-de-açúcar, em seu modelo de organização produtiva, se alinha inteiramente com a produção em larga escala e com a oligopolização da atividade agrícola em suas áreas de influência, o que encontrou respaldo na alta concentração fundiária da região, que evidenciei a partir do caso concreto do Mato Grosso do Sul, em que as características são as mais definitivas.
O exposto deixa claro que os aspectos técnicos da cultura canavieira figuram um elemento relevante para explicar a expansão canavieira para o Centro-Oeste, especialmente na medida em que seu aproveitamento permite a redução de custos de produção em um ambiente concorrencial mais acirrado que no passado. A análise aqui exposta busca dar uma contribuição ao debate acadêmico sobre o tema, propondo um olhar a elementos antes não, ou muito pouco, considerados. É preciso que se entenda a dinâmica do agronegócio a partir da terra, sua condição de existência, mas levando em consideração contextos mais amplos e dinâmicas interligadas, especialmente em tempos de globalização das cadeias agroalimentares e energéticas e de financeirização da atividade agrícola.
REFERÊNCIAS
ADECOAGRO. Sugar, Ethanol and Energy, 2022. Disponível em https://www.adecoagro.com/en/our-businesses/sugar-etanol-energy Acesso em 26 de maio de 2022.
BELLENTANI, Natália Freire. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético Tese (doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP. São Paulo, 2015.
BOURDIEU, Pierre. A gênese dos conceitos de habitus e campo. In BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 1989.
BOURDIEU, Pierre. Algumas propriedades dos campos. In BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
BOURDIEU, Pierre. O campo econômico. Política & Sociedade, n. 6, p. 15-57, 2005.
BRASIL. SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. Privatização das exportações de açúcar. Rio de Janeiro, 1977.
CASTRO, Selma Simões; ABDALA, Klaus; SILVA, Adriana Aparecida; BÔRGES, Vonedirce Maria Santos. A expansão da cana-de-açúcar no cerrado e no estado de Goiás: elementos para uma análise espacial do processo. Boletim Goiano de Geografia, v. 30, n. 1, pp. 171-191. Goiânia, 2010.
CORRÊA, Victor Marchesin. O setor sucroenergético enquanto um campo social: uma construção teórica e conceitual a partir da abordagem político-cultural. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 61, n. 4: e262813, 2023.
COSAN. Fato Relevante. Cosan e Shell assinam acordo vinculante para criação de JV 25 de agosto de 2010. Disponível em: http://ri.cosan.com.br/divulgacoes-e-documentos/avisos-comunicados-e-fatos-relevantes/ Acesso em: 02 de junho de 2022.
FERNANDES, Carlândia Brito Santos; SHIKIDA, Pery Francisco Assis; CUNHA, Marina Silva. O mercado de trabalho formal no setor sucroalcooleiro no Brasil. In: Anais do 49o Congresso SOBER. Belo Horizonte, 2011.
FLIGSTEIN, Neil. The Architecture of Markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. New Jersey: Princeton University Press, 2001.
FLIGSTEIN, Neil; MCADAM, Doug. A Theory of Fields. New York: Oxford University Press, 2012.
FURTADO, Celso. A pré-revolução brasileira Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2006. Disponível em: http://www. sidra.ibge.gov.br
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Disponível em: http://www. sidra.ibge.gov.br.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola Municipal (PAM). Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br
MANZATTO, Celso Vainer; ASSAD, Eduardo Delgado; BACA, Jesus Fernando M Mansilla; PEREIRA, Sandro Eduardo Marschhausen; MEIRELLES, Margareth Simões Penello; BACA, Angel Filiberto Mansila; NAIME, Uebi Jaime; MOTTA, Paulo Emílio Ferreira da. Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009.
MARQUES, Rubia Cristina Arantes. Expansão da agroindústria canavieira no Centro-Oeste brasileiro pós-desregulamentação: uma análise institucionalista. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional) – Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2017.
MOREIRA, Lourenço Passeri Lavrado da Silva. A corporação Cosan e a conquista de um território em torno de sua usina de etanol em Jataí, Goiás (2007 – 2012) Dissertação (mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, UFRJ. Rio de Janeiro, 2013.
MUNDO NETO, Martim Transformações na indústria sucroalcooleira brasileira no início do século XXI: das famílias aos acionistas. Tese (doutorado em Engenharia de Produção) – UFSCar. São Carlos, 2012.
NASSAR, André Meloni; RUDORFF, Bernardo; ANTONIAZZI, Laura Barcellos; AGUIAR, Daniel Alves; BACCHI, Mônica; ADAMI, Marcos; ZUURBIER, Peter; VOREEN, Jorik Van der. Prospects of the sugarcane expansion in Brazil: impacts on direct and indirect land use changes. In: ZUURBIER, Peter. e VOOREN, Jorik Van der. (Org). Sugarcane Ethanol: contributions to climate change mitigation and the environment. Luxemburg: Wageningen Academic Publishers, 2008.
OLIVEIRA, Ana Maria Soares. Reordenamento territorial e produtivo do agronegócio canavieiro no Brasil e os desdobramentos para o trabalho. Tese (doutorado em Geografia) – Facudade de Ciências e Tecnologia, UNESP. Presidente Prudente, 2009.
OLIVEIRA, Ilse Franco. A expansão sucroalcooleira em Goiás e o licenciamento ambiental. Dissertação (mestrado em agronegócio) – UFG. Goiânia, 2011.
PETROBRÁS. Petrobrás Biocombustível fecha acordo para incorporação da Nova Fronteira à São Martinho, 2016. Disponível em: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-biocombustivel-fecha-acordo-para-incorporacao-da-nova-fronteira-a-sao-martinho.htm Acesso em 30 de maio de 2022.
PINHEIRO, Junior Cesar. Análise da dinâmica das áreas ocupadas pela cultura canavieira no Brasil entre 1990 e 2013: uma contribuição ao estudo do circuito espacial produtivo do setor sucroenergético. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, Unicamp. Campinas, 2015.
RAMOS, Pedro. Agroindústria canavieira e propriedade fundiária no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1999.
RIO VERDE. Prefeitura Municipal. Prefeito sanciona lei que limita o plantio de cana segunda. 13 de setembro de 2006. Disponível em: https://www.rioverde.go.gov.br/prefeito-sanciona-lei-que-limita-plantio-de-cana-segunda/. Acesso em: 23 de maio de 2022.
SHIKIDA, Pery Francisco Assis A evolução diferenciada da agroindústria canavieira no Brasil de 1975 a 1995 Tese (doutorado em Economia Aplicada) – ESALQ, USP. Piracicaba, 1997.
SHIKIDA, Pery Francisco Assis. Expansão canavieira no Centro-Oeste: limites e potencialidades. Revista de Política Agrícola, n. 2, pp. 122-137, 2013.
SOUZA, Oswaldo Braga. Mato Grosso do Sul é campeão de conflitos com indígenas, mas também em concentração de terras. Instituto Socioambiental, 2021. Disponível em: https://site-antigo.socioambiental.org/pt-br/
saBeres, sujeitos e PoLíticas 21 noticias-socioambientais/mato-grosso-do-sul-e-campeao-de-conflitos-com-indigenas-mas-tambem-em-concentracao-de-terras. Acesso em: 28 de maio de 2022.
SZMRECSÁNYI, Tamás; RAMOS, Pedro; RAMOS FILHO, Luiz Otávio; VEIGA FILHO, Alceu de Arruda. Dimensões, riscos e desafios da atual expansão canavieira. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008.
USJ. Negócios, 2022. Disponível em: https://site.usj.com.br/site/negocios/. Acesso em: 29 de maio de 2022.
VIAN, Carlos Eduardo de Freitas. Inércia e mudança institucional: estratégias competitivas do complexo agroindustrial canavieiro no Centro-Sul do Brasil. Tese (doutorado em Economia) – IE/Unicamp. Campinas, 2001.
caPítulo 2
o lugar da agricultura FaMiliar na Sociedade braSileira:
uM olhar Para a diMenSão Política doS aliMentoS e Para a Política aliMentar e rural no braSil
Karina de Paula Carvalho
INTRODUÇÃO
As políticas públicas dizem respeito a um conjunto de atores públicos e privados com fronteiras de ação não rigidamente demarcadas e que se interpenetram. Esses atores internalizam as regras ao longo do processo e agem na medida que suas interações criam conteúdo para o desenvolvimento da problemática e estabelecem os mecanismos e estratégias que possam solucionar as questões postas em jogo.
Nessa seara, a noção de “referencial de política pública” foi desenvolvida pela escola francesa, em particular pelo seu maior expoente, Pierre Muller. Segundo o autor, essa abordagem de política pública tem como princípio que “elaborar uma política pública equivale a construir uma representação, uma imagem da realidade sobre a qual queremos intervir” (MULLER, 2003; p. 31, tradução livre). Como uma visão de mundo, os atores desenvolvem um repertório munido de referências e, de maneira cognitiva, organizam sua percepção do problema, comparam as possíveis soluções e definem suas propostas de ação.
Os referenciais são compreendidos pelo autor de duas formas: (i) o referencial global, em que o quadro de referência é uma representação geral em torno da qual serão ordenadas e hierarquizadas as diferentes representações setoriais. É composto por um conjunto de valores crenças fundamentais que constituem as crenças básicas de uma sociedade, bem como normas que definem, mas este não é um consenso social; (ii) o referencial setorial, por sua vez, é definido como a representação do lugar e o papel de um setor na sociedade
determinada, em uma época determinada (MULLER, 2003; p. 33). Segundo essa perspectiva, os limites de um setor são objeto de conflitos permanentes em conexão com controvérsias sobre o controle da agenda política. Nesse sentido, com base em leituras da realidade, se constitui o quadro correspondente a uma certa visão do lugar, do papel e do setor inserido na sociedade. Muller (2003) disserta que o quadro de uma política é constituído por um conjunto de prescrições que dão significado para um programa político, definindo critérios de escolha e métodos de designação. Dentro dessa abordagem referencial de políticas públicas, os atores são entendidos como “operadores da transação”, ou seja, são os mediadores munidos de valores. Muller define esses valores como o “mal” ou o “bem” que formam o “quadro da ação pública”.
Tendo como base essas noções de referencial global e setorial de política pública, este trabalho tem como objetivo compreender o lugar que a agricultura familiar veio tomando ao longo do tempo na sociedade brasileira, tendo em vista o “quadro da ação pública” que se desenvolveu no Brasil em torno das políticas públicas para a agricultura e políticas públicas alimentares. Especificamente, busca enveredar na esfera da ação pública de atores para evidenciar as disputas entre esses dois referenciais, dadas as diferentes formas de leitura da realidade e dos problemas sociais, econômicos e políticos permitidas pela ampliação da participação de atores diversos, que resultaram em maior politização do alimento e na institucionalização de um conjunto de políticas públicas voltadas à agricultura familiar e à alimentação.
No sentido de compreender quem são os atores e quais são as questões que eles mobilizam, os elementos aqui apresentados, em termos metodológicos, são frutos de uma revisão bibliográfica e documental de artigos acadêmicos a respeito dos quadros mobilizados em torno da implementação e execução de políticas públicas voltadas para alimentação e agricultura de base familiar. Busca-se apresentar sua gênese a partir da discussão realizada por atores em torno do campo político da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada (SSAN/DHA) e das políticas rurais.
Para isso, julga-se necessário tecer um apanhado de questões em torno das políticas públicas rurais no Brasil voltadas para a alimentação e agricultura familiar (SSAN/DHA). Esse “campo político” pode ser lido em Maluf (2023) como “um campo contra-hegemônico” que se insere em contrapartida aos referenciais globais neoliberais das políticas agrícolas e alimentares. O autor apresenta o processo de desenvolvimento desde a politização da fome com marco na obra “Geografia da Fome” (1946) de Josué de Castro e a construção social da SSAN/DHA, resultando na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346 de 2006, que institui o Sistema Nacional de SAN
com os objetivos de formular e implementar política e planos de Segurança Alimentar e Nutricional. Além também do Decreto nº 7.272 de 2010 que regulamenta a lei de SAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada (DHA).
Além das políticas voltadas para o enfrentamento da fome e da insegurança alimentar mais especificamente, outras políticas direcionadas para o setor da agricultura familiar, desenvolvimento rural e melhoria das condições de vida e trabalho no campo se desenvolveram nesse bojo dos “quadros de ação” de atores ao longo do século XX, como será discutido na próxima sessão. Hoje essas políticas formam um aparato institucional de fomento e assistência e garantia da reprodução da vida no meio rural, a exemplo da criação em 1995 do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O objetivo do programa é fortalecer a agricultura familiar por meio do financiamento subsidiado de serviços agropecuários e não agropecuários: o Programa de Aquisição de Alimento (PAA); a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER); e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Esses resultados de aporte de política pública foram protagonizados por atores diversos, sejam aqueles que compõem os discursos hegemônicos ou aqueles que disputam esses espaços de poder, como os vinculados à participação popular, ou, ainda, pesquisadores/as em seus esforços para tecer análises consistentes que contribuam ao debate teórico e prático. Esse conjunto de atores e sua capacidade de propor e formular políticas públicas resultam em um aparato institucional que vem a ser as políticas públicas dos alimentos no Brasil. Posto dessa forma, as políticas dos alimentos se expressam nas práticas e instituições que organizam a coexistência dos diversos atores sociais, dentro e fora do Estado, envolvidos em atividades e mobilizações sociais, ações e políticas públicas, com assimetrias, tensões e conflitos. A esse respeito, a formulação apresentada por Mouffe (2005) contribuiu ao explicar as diferenças entre o que diz respeito à dimensão política dos alimentos (the political), se tratando das questões que movimentam os atores para a ação, e a política dos alimentos em si (food politics), que se trata da prática, do processo de institucionalização, no âmbito da esfera estatal. Em conjunto, elas conformam contextos de conflitos e disputas.
A ideia aqui não é discutir os aspectos normativos em torno do processo de institucionalização, mas sim as ideias e representações que culminaram nos processos políticos para que isso ocorresse. Esse trabalho faz jus, sobretudo, no Brasil pós-2016, período marcado por rupturas e mudanças de caráter liberal e ultraliberal na gestão pública federal. Cenários como esses fazem ressurgir os debates sobre diferentes ideias do “dever-ser” das políticas públicas. No período recente, essas questões giraram em torno do debate sobre o desmantelamento de políticas públicas no Brasil, que tomou curso de maneira mais
explícita de 2016 a 2022, sob medidas de políticas econômicas relacionadas à austeridade fiscal (MATTOS, 2017; SABOURIN et al., 2020; MELLO, 2022).
A problematização do desmonte não é um alicerce para este trabalho, mas muito exemplifica como os “referenciais de políticas públicas” (MULLER, 2003) não são estáveis e sua dinâmica toma o ritmo do movimento que as relações de poder geram na medida que alteram as condições de disputas políticas, sociais, ideológicas e econômicas e seus ciclos de crises. Nesse sentido, a análise das questões embutidas no referencial global e setorial para pensar a dimensão política dos alimentos e a política dos alimentos no Brasil mostrará como essa problemática é recorrente e depende de fatores tradicionais da estrutura política brasileira e também dos aspectos conjunturais (MULLER; SUREL, 2004).
O ENFOQUE GLOBAL E SETORIAL DA AGRICULTURA: DISPUTAS DE NARRATIVAS E ATORES DIVERSIFICADOS
A abordagem cognitiva de políticas públicas é uma entre outras abordagens e ganhou maior expressão nos anos 1980-1990, com maior destaque para as contribuições de Pierre Muller, na França. Ela busca explicar como as políticas são formuladas e executadas, quais são os atores relevantes mobilizados, qual o grau da audiência, que fatores considerar na análise, qual metodologia a ser utilizada, além de outras questões que formam a arena de debates (GRISA, 2010). Na perspectiva cognitiva, é a produção de sentidos, as ideias, as crenças e as representações que fornecem elementos interpretativos para formular o problema a ser tratado pelos grupos setoriais. Essa análise é feita tendo em conta a dinâmica de relações de poder e as interações que cristalizam essas questões e demarcam o posicionamento no seio desse campo.
Esse campo de poder na elaboração das políticas públicas é ajustado por dois referenciais, que Muller (2003) chamou de “referencial de políticas públicas”. Este consiste na construção de uma imagem cognitiva, a formulação do problema geral e a proposição de ação para solucioná-lo. De acordo com o autor, a política pública é mais do que um processo de decisão do qual interagem muitos atores. Existem dois componentes que definem o nível dos debates e a escala de ação: o “referencial global” e “referencial setorial”.
O referencial global traz uma representação geral que tem a função de “ordenar e hierarquizar as diferentes representações setoriais. Ele é composto por um conjunto de valores fundamentais que constituem as crenças de base da sociedade, assim como por normas que permitem escolher entre as condutas” (MULLER, 2003; p. 34). No referencial global, é o âmbito em que se estabelecem os mecanismos que permitem dizer o que é “certo” ou “errado”, “mal” ou “bom”, etc. Nessa perspectiva, o Estado não deve intervir para não impedir essas liberdades de se manifestarem diante do campo de ação.
O referencial setorial diz respeito a uma representação do lugar e do papel de um setor numa sociedade em um dado período de tempo. É um referencial que delimita as questões e valores embutidos do campo geral, isso porque sempre há uma representação que domina, mesmo existindo diferentes representações. A que mais se aproxima do referencial global é, geralmente, a predominante. Essas conexões não se fazem de maneira automática, nem homogênea, e depende das configurações de poder, dos conflitos sociais e das resistências políticas e institucionais.
Os referenciais dizem respeito às leituras que são feitas da realidade e seguem alguns termos estruturais em um conjunto de prescrições que formam uma peneira dos objetivos e princípios de ação que estão na fronteira entre “o que é” e o que “deve ser”. A produção de ideias nesse referencial possui uma audiência diversificada sendo composta por agências governamentais, Organizações Não Governamentais (ONGs), think tanks, organizações privadas, movimentos sociais, universidades, entre outros. Esses mediadores são os atores responsáveis nesse processo de formulação de política pública, que constrói e transforma a partir dessa relação global/setorial. A análise cognitiva busca interpretar como esse processo ocorre.
Com base nessa perspectiva, procura-se aqui olhar os elementos históricos para analisar como “ideias” eram mobilizadas e como esses diferentes referenciais influenciaram as políticas públicas para a construção do campo político e social da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da agricultura familiar no Brasil. A intenção é analisar como as “ideias”, as representações sociais e os aprendizados na elaboração das políticas públicas, por meio dos ideais do “dever-ser”, estão postas pelos atores envolvidos. Essas questões e propostas para soluções dos problemas públicos demarcam características bem singulares à realidade brasileira, marcada por uma forte construção de uma dimensão política dos alimentos para discutir o problema da fome e das desigualdades de acesso aos recursos naturais e econômicos até a institucionalização na agenda governamental.
De acordo com Farah (2016), o “campo de públicas”1 no Brasil nasceu de um longo processo heterogêneo e multidisciplinar. De acordo com a autora, a análise de políticas públicas advém desde a década de 1930, mas sem ser acompanhada pela institucionalização de um campo científico. No entanto, com a expansão da produção e de cursos sobre política pública a partir dos anos 2000, esse quadro mudou, conduzindo à institucionalização do “campo de públicas’’, orientado para políticas públicas (policy analysis). Em termos
1 Farah (2016) apresenta esse termo para abordar o desenvolvimento e institucionalização de um campo de estudos de políticas públicas que se desenvolveu na academia brasileira, orientada inicialmente na vertente estadunidense dos policy studies que entende a política como processo.
conceituais, essa análise das políticas requer compreender como suas ideias são articuladas entre os atores e também as disputas e conflitos coexistentes entre grupos divergentes. No que concerne às políticas que recaem sobre os alimentos e à agricultura no Brasil, há diferentes interpretações sobre os referenciais da sociedade e economia que influenciaram as políticas públicas ao longo de seu desenvolvimento (GRISA, 2018).
Existe uma diferença, em termos cognitivos, entre os atores-chaves e seus ideais no interior do “quadro de ação” dessas políticas públicas. Isso interfere na formulação dos problemas e na maneira como estes são enfrentados e priorizados na esfera institucional. Essas diferenças de enfoques as colocam em disputa no cenário nacional e internacional. A primeira é a diferença conceitual e cognitiva entre a dimensão política dos alimentos e a política dos alimentos. A primeira diz respeito à natureza política dos alimentos, ou seja, que questões são mobilizadas para discutir o alimento e alimentação (justiça, equidade, direitos iguais, etc.) (MOUFFE, 2005). A política dos alimentos engloba questões complexas que se expressam nas práticas e instituições que organizam a coexistência de diversos atores em um contexto de conflitualidade. No Brasil, a trajetória tem apontado a prevalência do referencial global neoliberal, este, por sua vez, é munido pelos interesses da agricultura patronal que desenvolveu capacidade influente de interferir na elaboração das políticas públicas, além do predomínio de suas narrativas nos setores midiáticos (POMPEIA; SCHNEIDER, 2021; MALUF; ZIMMERMANN, 2021).
De acordo com Grisa (2018), diferentes narrativas emulam sobre como os problemas públicos devem ser interpretados e influenciam nas propostas de soluções a serem geridas. No campo da política pública da agricultura familiar, essas disputas resultam em diferentes compreensões sobre a sociedade e a economia que há mais de vinte anos vêm criando rearranjos entre “novos mediadores” e “velhos referenciais”. Influenciadas sobretudo pelo neoliberalismo e pelo neodesenvolvimentismo, na segunda metade do século XX, as opções de desenvolvimento perseguidas no país tomavam como referencial as economias capitalistas industrializadas (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Nesse caminho, seguiam as políticas para a setor da agricultura. O governo brasileiro tinha suas estratégias e ações acentuadas na industrialização, que ficaram conhecidas como “estratégia nacional-desenvolvimentista”, tendo o Estado como “agente produtivo e financeiro” (GRISA; SCHNEIDER, 2015, p. 4).
De acordo com Delgado (2010, p. 33), esse modelo de desenvolvimento, baseado na ideia de crescimento econômico, foi “a expressão e sustentáculo de um pacto de poder autoritário e excludente das camadas populares, especialmente do meio rural”. Ao mesmo tempo em que “tornava hegemônico o projeto industrializante”, mantinha imóvel a posição de poder no campo. Além disso, o Estado formulava e executava políticas públicas macroeconômicas e
setoriais centradas na constituição de uma economia “urbano-industrial”. Para o autor, a função central do Estado era de regulador da economia, atuando, protegendo a produção, auferindo subsídios a investimentos, criando mercados, sustentando os preços dos alimentos, controlando os salários reduzido e elevando os lucros industriais. Com base no autor, esse padrão de industrialização tem duas características centrais: “a importância decisiva do Estado para sua implementação e o caráter conservador do processo, no sentido de que não representou qualquer rompimento com as elites agrárias e esteve baseado na manutenção de salários reduzidos”; isso porque o “referencial setorial” (setor da agricultura) precisava se ajustar ao “referencial global” que a industrialização da economia do país seguia. Durante 20 anos, dominou o referencial denominado por “política agrícola ativa”.
De acordo com Grisa e Wesz Junior (2010), nos anos 1960, a estratégia de transformação do meio rural e da modernização agrícola já apresentava alguns sintomas de crise. Em 1970, o Estado já não conseguia manter sua capacidade de articulação do pacto de poder político que o sustentava devido aos problemas de abastecimento alimentar, atrelado ao aumento da inflação, resultado da inflexibilidade da oferta dos produtos agrários com a demanda por produtos primários que crescia em razão da industrialização e urbanização (GRISA; SCHNEIDER, 2015).
Conforme Delgado (2010) e Grisa e Schneider (2015), no tocante à crise econômica e de abastecimento dos anos 1970, emergiram críticas ao padrão dependente e excludente desse modelo de economia. Em contraposição aos questionamentos feitos estavam as elites agrárias, economistas e acadêmicos e os militares do governo federal, que seguiram na defesa e implementação da modernização tecnológica da agricultura pela justificativa que esta precisava se modernizar em prol dos objetivos traçados para o desenvolvimento econômico do país.
De acordo com essa referência, no início da década de 1980 começa a se perceber uma atenção à agricultura familiar, ou pelo menos à parte de seus setores ligados ao mercado interno, diferente do que se via até a década de 1970. Grisa e Schneider (2015) salientam que, política e institucionalmente falando, estava excluída a participação desses atores na agricultura nacional, sobretudo estavam limitados a uma atuação mais crítica e propositiva a partir da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), sendo essa a principal representação dos “pequenos agricultores” na época (GRISA; SCHNEIDER. 2015, p. 25).
Entretanto, em meio ao “aprofundamento da crise de poder e de legitimidade da ditadura militar” (DELGADO, 2010, p. 41), crescia o movimento de trabalhadores rurais reunidos em conferências na busca de uma política agrícola adequada às especificidades dos pequenos agricultores (GRISA; SCHNEIDER, 2010). O cenário era de disputas sobre a atuação de “novos movimentos sociais”,
com críticas ao governo e em prol da representação da agricultura de base familiar. Emergiram distintos movimentos com objetivos diversos, mas, em comum, procuravam jogar luz às precárias condições de reprodução social e à falta de políticas públicas adequadas à realidade dos “pequenos produtores rurais”. Nesse sentido, ao surgirem “novos personagens” (DELGADO; 2010, p. 42), ganham visibilidade no espaço público novos movimentos sociais rurais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, o Conselho Nacional dos Seringueiros, junto com a CONTAG e também a Central Única dos Trabalhadores (CUT), além da presença de entidades da Igreja Católica.
Ao mesmo tempo, a questão da produção agroalimentar passou a entrar em discussão com um outro olhar, tendo em conta outras questões sociais. Isto é, a fome, a pobreza e as desigualdades sociais estavam ganhando uma conotação para além da questão produtivista. Embora as políticas de desenvolvimento econômico continuassem a seguir o delineado da política agrícola e o papel do Estado era de “corrigir as falhas de mercado”, o próprio Estado passou a desempenhar papel importante no combate à pobreza extrema, assim como preconizavam os relatórios do Banco Mundial (SANTANA JUNIOR, 2013).
O fato é que, entre os anos de 1998 e 2000, foi implementado um conjunto de ações e políticas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, com foco nas áreas rural e urbana. Essas políticas e programas, segundo Grisa e Schneider (2015), foram inseridas no Programa Fome Zero, em 2003, conferindo maior impulso às ações na forma de políticas sociais de combate à fome e à pobreza. No tocante a essas políticas, estavam atores que atingiram as arenas públicas, tendo se apoderado de oportunidades para a institucionalização de “novas” ideias e reivindicações de diferentes atores políticos, estudiosos, movimentos sociais e de organizações da sociedade civil. Entre esses atores, encontram-se principalmente aqueles ligados ao movimento pela promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Foram os atores que conformam o campo político da SSAN/DHA com “novas ideias e reivindicações” que puseram o tema da fome em pauta, defendendo as políticas de SSAN, associando a essas ações promotoras também da agricultura familiar, e na sua pauta traziam novas abordagens sobre o meio de produzir e de acessar alimentos e a percepção de um “sistema agroalimentar” mais equitativo.
O CONCEITO AMPLIADO DE SSAN
Os resultados da grande movimentação mostram que o Brasil conseguiu com criatividade e ações multissetoriais incluir, aos poucos, o tema na agenda pública nacional. A arena de participação dos diversos atores se deu em
diferentes espaços de atuação. Esses espaços permitiram construir um arsenal político e um campo analítico que garantiu a consolidação do então Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) para gerir o Programa Fome Zero. Esse elemento transversal permitiu que em 2003 a política de SSAN entrasse em nova fase, tendo em vista a gestão do Programa Bolsa Família, com a absorção da estrutura do MESA no novo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Assim, conferiu-lhe dimensão intersetorial pelo seu princípio organizacional da ação pública, implicando dois mecanismos de coordenação: o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).
A definição brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional colocou em evidência o fato de que a SSAN se constitui na materialização de um direito, cuja promoção a torna um objetivo permanente de políticas públicas associado às noções de desenvolvimento e soberania alimentar. De acordo com Maluf e Reis (2013), esse requisito resulta num conjunto de proposições a serem instituídas no âmbito dos Estados e dos organismos internacionais enquanto obrigações e metas. No entanto, isso implica o reconhecimento da existência de diversas conceituações e permanentes disputas sobre seu significado, de modo que a construção do conceito deve ser contextualizada e estratégias no sentido da sua promoção devam ser teoricamente qualificadas. Seu marco analítico encontra-se no esforço de Josué de Castro ao traçar pesquisas pioneiras que tiveram um forte impacto na opinião pública nacional e internacional. Castro era também um defensor ardoroso da reforma agrária, enxergando-a como uma estratégia necessária, em virtude de sua imensa extensão territorial, para a democratização da terra e o acesso a um número grande de famílias aos recursos e meios de sobrevivência para garantir sua soberania alimentar e, ao mesmo tempo, integrá-las aos circuitos econômicos locais. A maioria dos pontos elencados por Josué de Castro permanece até hoje na seara dos conflitos socioambientais ou como objetivos de busca permanente, mesmo que com contornos distintos.
Segundo Pinheiro (2009), Josué de Castro também foi pioneiro em incorporar o componente nutricional como um indicativo de qualidade da alimentação e nutrição. Ele diagnosticou que a produção da fome não está restrita ao número de proteínas e calorias ingeridas diariamente, mas à carência de micronutrientes como ferro e vitamina A, que serviriam de indicadores biológicos para o que ele chamou de “fome oculta”. O seu legado é lembrado com grande honra, sendo lhe consagrado um lugar de patrono no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).
Os fatores apresentados por Josué de Castro alargaram a possibilidade de se pensar problemas estruturantes, como exemplifica a instituição da alimentação
como um direito humano fundamental na Declaração de 1948, reafirmado em diversas ocasiões no âmbito do Direito Internacional pela ONU. O conceito de fome formulado por Josué de Castro resultou na ideia geral do direito à alimentação: implica reconhecer que, embora a fome seja uma das principais formas de manifestação da insegurança alimentar, as ações no sentido de erradicá-la não devem ser concebidas de maneira separada das ações de promoção da SSAN como uma estratégia de desenvolvimento mais ampliada, em outras palavras, considerar as ações em prol da SSAN como elemento fundamental para o desenvolvimento do país.
No Brasil, o conceito de SSAN adquiriu especificidade própria, conferida pelo amplo processo de participação social em torno da construção de uma agenda de segurança alimentar e nutricional, propiciando a criação de leis, planos e estruturas com vistas à implantação de um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional tem sido defendida como um eixo do desenvolvimento e um objetivo estratégico das políticas públicas nacionais fundamentadas no princípio da soberania alimentar e do direito à alimentação.
Nesse sentido, o conceito de SSAN vem sendo ressignificado e ampliado na medida que seu debate alcança os mais variados segmentos da sociedade e diversos aspectos socioculturais, ambientais e político-econômicos são incorporados, conforme se reorganizam as relações sociais e de poder no Brasil e no mundo (LEÃO; MALUF, 2012). Nessa direção, Maluf (2007) relatou avanços conceituais da SSAN desde meados do século XX, enfatizando a necessidade da contextualização das suas definições e das múltiplas compreensões a respeito de um mesmo termo. Nas palavras do autor, trata-se de “elemento de disputa, [...] que fica evidente quando utilizada para fundamentar proposições de política pública, principalmente ao legitimar a pretensão de algum tipo de tratamento diferenciado por parte do Estado” (MALUF, 2007, p. 15).
Nesse sentido, por conta dessa afirmação gradual do protagonismo desses novos personagens no controle social das políticas públicas, as questões sociais ganharam progressividade sem precedentes na história do país, tornando-se mais substancial, em termos conceituais e políticos, na década de 1990. Contudo, Grisa e Schneider (2015) comentam que essa “progressividade” não implicou necessariamente em conquistas, tendo ainda prevalecido os interesses e o poder da agricultura patronal na elaboração das políticas públicas.
A ESFERA INSTITUCIONAL DAS POLÍTICAS ALIMENTARES E RURAIS
Como evidenciado nas questões apresentadas anteriormente, o período de passagem do nacional desenvolvimentismo para o neodesenvolvimentismo
33 é compreendido como um marco para a construção do campo de políticas públicas no Brasil, com uma ampliação do seu lócus e de seus atores e alta mobilização de conhecimento (de base científica). Como discorre Farah (2016), o Estado burocrático brasileiro é um ator-chave nessa disputa de construção de conhecimento, e é preciso identificar a presença de seus elementos condicionantes para compreender e analisar essas políticas.
Com a ampliação da participação de novos atores representantes da sociedade civil, os espaços políticos sofreram alterações. A disputa das posições ideológicas e as políticas ganharam novas relações de poder. Com o pós-guerra (no Brasil, de 1945-1964 para ser mais exato), o keynesianismo ganhava maior destaque na disputava com o liberalismo econômico. É um período marcado pelo insulamento burocrático ao máximo, com a ditadura civil e militar culminada pelo golpe de 1964, em que se observa um retorno ao projeto de modernização e o propósito de separação entre administração e política. Como visto acima, o setor agrícola foi um dos focos para essa transformação nacional, o que demandava um esforço de construção institucional para a profissionalização de serviço público pela formação de um aparato burocrático, denominado por Farah (2016) como uma “elite técnica”.
Esse aperfeiçoamento direcionado à relativa participação dos burocratas no processo de formação e implementação de políticas públicas no Brasil, mais precisamente para aquelas voltadas ao setor agrícola, influencia até hoje as políticas alimentares. A retórica da política agrícola regida pela política econômica se aperfeiçoou e recebeu novos atores e novas abordagens, mas ainda traz o velho referencial utilizado na segunda metade do século XX, como discute Grisa (2018). Segundo a autora, a instabilidade política e a perda de confiança da economia brasileira, que resultou no impeachment da então presidenta Dilma Rousseff em 2016, criaram condições favoráveis para que o referencial neoliberal ganhasse força na política brasileira.
Esse período marca uma maior hegemonia de um referencial que nunca deixou de conduzir a política agrícola e econômica brasileira, e, consequentemente, a política dos alimentos. Nos últimos vinte anos, como discute a autora, é notável uma maior participação do referencial setorial para a política social, alimentar e agrícola. Isso se deu pelos “novos mediadores” entrarem na disputa de poder sobre a questão da agricultura familiar, sobre o abastecimento alimentar, o problema da fome e a institucionalização da política de SSAN que se deu pelo acesso aos espaços políticos, o que permitiu uma reativação e recontextualização do referencial neoliberal (GRISA, 2018).
No entanto, de 2016 em diante, o que se observa é a crescente presença de pautas de política pública orientada para a difusão tecnológica e aumento da produtividade. Esses atores vêm se posicionando a favor de outro referencial setorial, a partir do referencial global, que seguem sendo fortalecidos em
detrimento do social. A defesa de uma orientação focada no progresso econômico pelo agronegócio e a mineração (a exemplo da exploração do Lítio no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais) vem acompanhada da justificativa da necessidade de maior difusão tecnológica para ampliar a produtividade.
De acordo com Pompeia e Schneider (2021), a emergência do destaque a essas ideias dos representantes das cadeias de commodities lançam mão de aparatos nos quais promovem controvérsias paradoxais à agenda política, mais precisamente a de SSAN. O discurso privilegiado busca legitimar posicionamentos sobre políticas públicas e propostas legislativas na agenda brasileira. Essas questões só reforçam que as políticas públicas rurais, como a agricultura familiar e a política dos alimentos, estão envoltas em um campo de construção que é permanente, englobando forças simbólicas e lutas transformadoras. São conceitos em disputas que fazem questionar quais são os capitais simbólicos mobilizadores para esse campo.
Pelo que discorre McMichael (2004), no campo epistêmico neoliberal, o mercado atingiu sua forma mais elevada da segurança alimentar como sendo um arranjo global. A esse respeito, merece atenção aqui a questão de que a política dos alimentos defendida pelo setor agroexportador de commodities ainda se regula pelo que Grisa (2018) chamou de “velhos referenciais”. Observa-se uma crescente produção desse referencial que coloca a produção de bens agrícolas brasileiro como uma garantia para segurança alimentar global. O “Brasil como celeiro do mundo” é a visão difundida por essa perspectiva e, por isso, necessita de um bom funcionamento do mercado para o abastecimento mundial. No período da pandemia, esse discurso ganhou força. Isso reforça que as acepções e usos da segurança alimentar na atualidade, e o tratamento a ela conferido não são homogêneos e muito menos de consenso geral.
Desde as mobilizações sociais, políticas e institucionais do final do século XX que culminaram na construção do SISAN, muitas questões foram levantadas e incorporadas. Como característica inerente de toda política pública, as políticas públicas rurais não estiveram imunes à dinâmica política, social e econômica ao longo desses vinte anos. A história da política institucional brasileira evidencia ciclos bem característicos de que, em períodos de maior crise, as políticas de interesse no social são as mais vulneráveis a essa dinâmica. Delgado e Zimmermann (2022) discutem que o golpe parlamentar de 2016 pode ser considerado como um marco do início do processo de desmonte de políticas públicas no Brasil, mais precisamente do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A crise política institucional e a instabilidade econômica provocaram ou vieram sendo minadas por uma mudança no questionamento do papel do Estado e abriram novos caminhos políticos para uma radicalização de seu papel como garantidor dos direitos conquistados na Constituição de 1988.
Segundo os autores, com uma fase mais conservadora “de Estado clientelista/ patrimonialista” (DELGADO; ZIMMERMANN, 2022, p. 15), que há séculos está presente na sociedade brasileira, vem colocando, progressivamente, em xeque o papel da democracia no processo de determinação das políticas públicas. De lá pra cá, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2016, no governo Michel Temer, foi o ponto inicial que desestruturou e desmembrou toda a estrutura das políticas fazendo com que não houvesse uma plataforma de diálogo (MATTOS, 2017). A extinção do MDA e também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), como primeira medida do governo Bolsonaro em 2019, atrelada às políticas de austeridade fiscal que se sucederam diante do cenário de perda de dinamismo e desaceleração da economia provocaram consequências sérias à arena e à audiência das políticas públicas. O enfraquecimento e o desmonte das políticas comprometeram o acesso do campesinato a direitos fundamentais e causaram a perda de um “patrimônio sociocultural brasileiro”, como discute Mattos (2017).
Delgado e Zimmermann (2022) dissertam que, ao longo dos 13 anos de “institucionalização de um conjunto de instituições voltadas a garantir o direito humano à alimentação adequada”, esse processo sofreu significativas alterações de sua configuração, dos instrumentos, do montante de recursos do Orçamento Geral da União destinados, bem como de seus objetivos. No entanto, com a manobra de derrubada dos governos petista, fez com que esse mecanismo de mudança na política pública tomasse significados diferentes e, por sua vez, objetivos divergentes às propostas iniciais. Os autores debatem que o desmonte não pode ser interpretado como uma “simples extinção de políticas”. O desmonte do SISAN serve de exemplo para mostrar como as estratégias de desmantelamento de um mesmo grupo de políticas atuam de diferentes facetas. Entre elas estão as mudanças incrementais, algumas alterações que não são percebidas a curto prazo, mas, também, manobras que causam sérios danos que rapidamente ganham visibilidade e são sentidas mais rápidas pela audiência da política.
É importante sinalizar para a discussão aqui proposta o que significou a extinção do Consea, um importante espaço público de debates e exercício de democracia participativa social na construção das políticas públicas do país. O Consea tem a função de criar uma unidade nacional para a articulação intersetorial e multidimensional com os conselhos estaduais e municipais. No entanto, embora essa medida tenha provocado o desmantelamento das equipes técnicas e do espaço operativo para o controle social, este não deixou de resistir. Não permaneceu da mesma forma, mas persistiu as mais variadas manifestações da arena de debates e na prática social e política, seja pelos movimentos sociais, pelas ONGs, pelos pesquisadores, servidores públicos. Em
outras palavras, a ressignificação e o papel institucional das políticas públicas para a agricultura e para a SSAN provocou um novo giro de disputas de poder também sobre a dimensão política dos alimentos e, dessa forma, os atores tiveram que estabelecer novas formas de articulação do debate e ação.
Essa medida provisória sinalizou de antemão quais seriam os ordenamentos políticos no tratamento da política alimentar e os rumos da política agrícola. Ao longo da gestão do governo federal de 2019-2022, a produtividade do setor Agroexportador ganhou o discurso central de maneira mais explícita. O discurso do setor agroexportador e sua relevância para a sustentação do PIB brasileiro ganhou a centralidade do debate político e político partidário, sobretudo no período da pandemia de COVID-19, um marco nos recordes de exportações. O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro é calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Com base nos dados divulgados, o PIB do setor avançou 24,31% em 2020, frente a 2019 (que era de 20,5%), e alcançou participação de 26,6% no PIB brasileiro. Em valores monetários, o PIB do País totalizou R$ 7,45 trilhões em 2020, e o PIB do agronegócio chegou a quase R$ 2 trilhões. Esses valores dinamizou o discurso midiático do agronegócio e de sua relevância na sustentação do PIB brasileiro. Com base em Bittencourt, Romano e Castilho (2022), o Agro é um dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil e se baseia nas abordagens econômicas, endossando sua capacidade de contribuição, dado a ampla abrangência de atividades e o valor agregado desde a produção primária até o processamento e a comercialização dos produtos agrícolas. Outra medida dessa contribuição econômica está em sua capacidade de exportação, sendo o Brasil um dos principais exportadores mundiais de produtos agrícolas, como soja, carne bovina, aves, milho, açúcar, café, entre outros.
Os autores também trazem a abordagem política, com a coalizão do agronegócio com influente trânsito e representação nos ministérios e órgãos do Poder Executivo, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Há membros com participação direta nos espaços de representação e decisão, presentes também no poder legislativo, a níveis municipais, estaduais e federais. Outro setor significativo para o Agro é a mídia hegemônica, com campanhas de longo alcance, produzindo publicidade sistemáticas. Ao passo que esse setor se tornou mais lucrativo, imperava o regime de projetos políticos ultraliberais, com políticas de austeridade fiscal e desmantelamento das políticas públicas para a agricultura familiar, de enfrentamento à pobreza rural, assistência técnica, e fomento às práticas agroecológicas. Esse avanço se deu pela expansão da fronteira agrícola sobre terras e territórios do Cerrado e da Amazônia, também de legislações de incentivos fiscais, liberalização de agrotóxicos.
Na contra-hegemonia do discurso de produtividade do Agro, nesse período de crise sanitária e humanitária, observou-se uma diversidade de atores (mulheres negras, indígenas, camponesas, das periferias das grandes cidades, quilombolas, entre outros povos e comunidades tradicionais), seja do campo ou das cidades, os(as) responsáveis na produção de comida, que abastece os mercados de alimentos de todo país. Agroecologia, defendida por esses grupos reunidos na Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), se coloca como uma ciência e prática que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim um agroecossistema sustentável.
Os dados de 2021 da Rede PENSSAN mostrou o grau de insegurança alimentar e da fome no Brasil. Segundo o Inquérito, no ano de 2022, 33,1 milhões de pessoas não tinham o que comer, sobretudo a população rural, em que a fome atingiu 21,8% dos lares de agricultores familiares e pequenos produtores. Esses dados contrastam com o PIB do agronegócio, evidenciando mais ainda o debate de que esse setor não é capaz de erradicar a fome dos brasileiros, pelo contrário, quando seus avanços diminuem as áreas produtivas de comida, como o feijão, o arroz, a mandioca, as bananas, entre outros alimentos que estão na base da cultura alimentar brasileira. Isso impacta na sobrevivência das famílias agricultoras rurais, dos povos tradicionais, no acesso à alimentação pela população dado o aumento dos preços desses alimentos, entre outras questões. Essas questões mobilizam atores que prezam pela valorização de políticas que priorizem a produção familiar e agroecológica.
A nova gestão do governo (2023-2027) com a eleição do Presidente Lula faz ressurgir um cenário de retomada das políticas públicas de caráter progressistas. Os discursos por trás do caráter das políticas públicas e dos equipamentos públicos em sua garantia se dinamiza e ganha contornos de maior abertura à diversidade da população na participação executiva, a exemplo do Ministério dos Povos Indígenas, um marco histórico no Brasil, a volta do CONSEA, e maior preocupação com as políticas de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda. O retorno das políticas e programas não significa ou sinaliza posição política do fim dos projetos políticos de valorização do setor Agro, são disputas contínuas e indicam um novo estado de ordenamento que pode se manter ou alterar com o tempo.
Contudo, a discussão aqui proposta mostrou o papel significativo que a participação popular como sujeitos ativos na construção de políticas públicas foi a alavanca para a conquista de direitos fundamentais dos(as) brasileiros(as). Também mostrou que a redução das desigualdades e a promoção da justiça social no Brasil estão atreladas a esse longo caminho de lutas que diversificaram os atores e as demandas públicas por uma conjuntura de governança
renovada para a garantia do direito à alimentação e reconhecimento do trabalho rural. A abertura para novos referenciais permitiu que as políticas sociais e a temática da SSAN chegassem em sua definição conhecida hoje. Políticas estas que fizeram o Brasil ser reconhecido por sua experiência bem-sucedida de combate à fome e à pobreza e se tornar exemplo mundial, inspirando diversos países a implementarem programas semelhantes, como abordado nos estudos de Teoria da Policy Transfer (GRISA; NIEDERLE, 2019) e destacado na FAO (2016) pelo aspecto “doble via”, ao conciliar medidas urgentes com medidas estruturantes. Dentre essas políticas, as que mais se destacaram foram o Programa Fome Zero, o Programa Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
No entanto, o Brasil percorreu caminhos contrários ao desenvolvimento de políticas inclusivas e integrativas. Segundo Rosana Salles-Costa (2021), em apenas 5 anos, o brasileiro regrediu 15 anos (2018-2003) em perda de direitos conquistados nesse período. Contudo, a gravidade é sentida de maneira desigual pela população, como a volta de indicadores de fome nos patamares comparados à realidade dos anos 1990, período em que as políticas sociais e de SAN ainda não vigoravam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, como já sinalizado pela literatura aqui utilizada, o “quadro de ação” dos atores na disputa por políticas de SSAN/DHA e políticas rurais fizeram emergir temas como o social, economia, saúde, cultura, trabalho rural, previdência social, fome e insegurança alimentar, entre outros interligados. Essas questões só foram incorporadas porque o cenário permitiu que os atores na luta política pudessem ser incorporados como mediadores na formulação das políticas públicas e competissem com novos referencias setoriais, diante dos “velhos referenciais”, que, mesmo assim, não deixaram de ser hegemônicos. As condições para que isso ocorresse se deu por conta da eleição de governantes com propósitos progressistas que enxergavam o Estado como agente responsável para a garantia de direitos e promoção do desenvolvimento pela redução das desigualdades em múltiplos aspectos. Isso fica caracterizado pela adoção de políticas de caráter transversais.
Este trabalho apresentou o quadro conceitual e analítico que envolve as políticas públicas alimentares e rurais, sua formulação e apropriação em uma disputa de narrativas, sobretudo no que se refere aos seus objetivos. Questionou-se quais as condições políticas, sociais e econômicas que permitiram os referencias global/setorial neoliberal e o referencial setorial da agricultura familiar e das políticas dos alimentos disputarem sobre esse campo institucional, bem como essas questões desaguaram na conjuntura atual.
Por fim, ficou evidente a sobreposição do referencial global/neoliberal em detrimento do referencial setorial da agricultura de base familiar e como isso repercute na capacidade de continuidade das políticas públicas de alimentos. Está na retórica do agronegócio a exaltação dos alimentos entendidos como commodities. Ficou evidente também a legitimação de um Estado como agente produtivo e financeiro. Posto dessa forma, para reassumir o compromisso de redução das mazelas sociais mais urgentes, como a volta da fome, e as estruturais, como as desigualdades distributivas, nota-se que é preciso, mais do que nunca, renovar a capacidade de intervenção do Estado e desenvolver novas formas e estratégias de ação.
REFERÊNCIAS
BARROS, Geraldo Sant’Ana de Camargo (Org.). PIB do Agronegócio brasileiro. Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Esalq/USP, 2021.
BITTENCOURT, Thaís Ponciano; ROMANO, Jorge Osvaldo; CASTILHO, Ana Carolina Aguiar Simões. O discurso político do agronegócio. Rev. Tamoios, São Gonçalo (RJ), v. 18, n. 1, p.186-207, jan.-jun. 2022.
BRASIL/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (2006). Lei 11.346, de 15/09/2006, que cria o sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN – com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Brasília, Presidência da República, 2006.
CASTRO, J. Geografia da Fome Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1946.
DELGADO, N. G. O papel do rural no desenvolvimento nacional: da modernização conservadora dos anos 1970 ao Governo Lula. In: DELGADO, N. G. Brasil rural em debate: coletânea de artigos. Brasília: CONDRAF/NEAD, 2010, p. 2878.
DELGADO, N.; ZIMMERMANN, S. Políticas públicas para a soberania e a segurança alimentar no Brasil: conquistas, desmontes e desafios para uma (re)construção. Textos para Discussão, 84. Saúde Amanhã. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2022.
DELGADO, Nelson Giordano. O papel do rural no desenvolvimento nacional: da modernização conservadora dos anos 1970 ao Governo Lula. In: DELGADO, Nelson Giordano (coord.). Brasil rural em debate: coletânea de artigos. Brasília: CONDRAF/NEAD, 2010, p. 28-78.
DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Tempo social, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 63-101, nov. 2003.
FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação). Superação da fome e a pobreza rural: iniciativas brasileiras. Coordenação: Alan Jorge Bojanic. Capítulo 1 e 2. Brasília, 2016.
FARAH, M. F. S. Análise de políticas públicas no Brasil: de uma prática não nomeada à institucionalização do “campo de públicas”. Revista de Administração pública, v. 50, n. 6, p. 959-979, 2016.
GRISA, C. Diferentes Olhares na Análise de Políticas Públicas: considerações sobre o papel do Estado, das Instituições, das Ideias e dos Atores Sociais. Sociedade e Desenvolvimento Rural, v. 4, n. 1, junho de 2010.
GRISA, C. Mudanças nas políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil: novos mediadores para velhos referenciais. Raízes, v. 38, n. 1, 2018.
GRISA, C.; NIEDERLE, P. Transferência, convergência e tradução de políticas públicas. A experiência da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul. Dados, v. 62, 2019.
GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e Estado no Brasil. In: GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio (org.). Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.
GRISA, Catia; WESZ JUNIOR, Valdemar. Políticas públicas para a agricultura familiar: entre avanços e desafios. Boletim do OPPA, n. 3, 2010.
LEÃO, Marília. MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e nutricional: a experiência brasileira. Brasília: ABRANDH, 2012.
MALUF, Renato S. Política dos alimentos e participação social no Brasil: alcances de um campo contra-hegemônico. In Desafios e tendências da alimentação contemporânea: consumo, mercados e ação pública / organizadores Maycon Noremberg Schubert, Jeferson Tonin [e] Sergio Schneider. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2023.
MALUF, Renato S. Segurança Alimentar e Nutricional. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.
MALUF, Renato S.; ZIMMERMANN, S.; Jomalinis, E. Emergência e evolução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil (2003-2015). Estudos Sociedade e Agricultura, 2021.
MALUF, Renato S.; REIS; Márcio C. Segurança alimentar e nutricional na perspectiva sistêmica. In: Rocha, C.; Burlandy, L.; Magalhães, R. (orgs.). Segurança alimentar e nutricional: perspectivas, aprendizados e desafios para as políticas públicas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, v. 1.
MATTOS, Luciano Mansor de. Austeridade fiscal e desestruturação das políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Friedrich Ebert Stiftung, Brasil, 2017.
MCMICHAEL, P. Biotechnology and food security – profiting on insecurity? in Beneria, L.; Bisnath, S. (eds.). Global tensions – challenges and opportunities in the world economy. N. York, Routledge, 2004, 137-153.
MELLO, Janine. Condicionantes e hipóteses. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Capítulo de livro, Rio de Janeiro, 2022.
MOUFFE, C. On the political. Abingdon (UK): Routledge, 2005.
MULLER, P. Les politiques publiques. Paris: PUF, 2003.
MULLER, P.; SUREL, Y. A análise das políticas públicas. 2. ed. Pelotas: Educat, 2004.
PENSSAN R. VIGISAN 1ª Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. [relatório eletrônico] 2021. Disponível em: https://olheparaafome.com.br/pesquisa2020/.
PENSSAN R. VIGISAN 2ª Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. [relatório eletrônico] 2023 Disponível em: https://olheparaafome.com.br/.
PINHEIRO, Anelise R. O. Análise histórica do processo de formulação da política nacional de segurança alimentar (2003-2006). 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
POMPEIA, C.; SCHNEIDER, S. As diferentes narrativas alimentares do agronegócio. Desenvolvimento e Meio-Ambiente, Curitiba, vol. 57, p. 175-198, 2021.
SABOURIN, E. et al. Le démantèlement des politiques publiques rurales et environnementales au Brésil. Cahiers Agricultures, v. 29, 2020.olíticas no Brasil:
SALLES-COSTA, Rosana. O cenário atual da Insegurança Alimentar no Brasil. Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.
SANTANA JUNIOR, Gildásio; SANTOS, Leandro Tavares dos. O Banco Mundial e as políticas de combate à pobreza na América Latina: uma análise dos relatórios de 1990, 2000 e 2006. Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, ano X, n. 14 (especial), p. 205- 225, jan./jun. 2013.
caPítulo 3
caMPanhaS PolíticaS de Solidariedade:
MoviMentoS SociaiS e doação de aliMentoS na PandeMia de covid-19
INTRODUÇÃO
O presente capítulo é o desdobramento de uma longa pesquisa de mestrado realizada entre os anos 2020 e 2022 junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do CPDA/UFRRJ1, na qual investigamos, eu e minha orientadora Claudia Schmitt, a teia de relações políticas e econômicas construídas através de duas campanhas de doação de alimentos durante a pandemia de Covid-192, ambas coordenadas por movimentos sociais organizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Em situações de crises socioeconômicas ou de catástrofes ambientais, é comum que surjam grandes mobilizações sociais com o objetivo de prestar auxílio aos grupos mais atingidos pelos efeitos da crise, particularmente aqueles reconhecidos como em situação de pobreza, marginalidade social ou insegurança alimentar. Em sua grande maioria, as ações coletivas de solidariedade destinam-se à doação de alimentos, roupas e produtos de higiene, entendidos como elementos de primeira necessidade para a sobrevivência humana, principalmente quando as populações assistidas ficam impedidas de exercer qualquer atividade que lhes garanta uma fonte de renda.
As doações de alimentos promovidas por indivíduos voluntários ou por organizações da sociedade civil são comumente estruturadas no formato de
1 Título da dissertação: “Campanhas políticas de solidariedade: movimentos sociais e doação de alimentos na pandemia de Covid-19” (CPDA/UFRRJ, 2022).
2 Os primeiros casos de coronavirus foram detectados na província de Wuhan, na China, em novembro de 2019. Em poucas semanas, seu alto grau de contágio fez com que o vírus se espalhasse por dezenas de países, sendo o primeiro caso oficial no Brasil registrado em 20 de março de 2020.
campanhas, em que se traçam estratégias para a arrecadação de recursos por meio de doações, com os quais se compram os alimentos que serão distribuídos aos donatários finais. As campanhas podem assumir diferentes formatos e costumam ser realizadas por meio de trabalho não remunerado, geralmente concentrando-se na distribuição de cestas básicas compradas em supermercados ou redes atacadistas.
É possível, também, que as doações sejam feitas diretamente por empresas ou tenham o apoio de instituições filantrópicas ou governamentais, seja no financiamento dos alimentos a serem distribuídos, no fornecimento de equipamentos que facilitem a logística ou na própria gestão das campanhas. Em ambos os casos, a solidariedade assume o papel simbólico de elemento articulador entre as demandas concretas das populações beneficiárias e os discursos que visam justificar a necessidade e urgência das campanhas. No imaginário coletivo, a solidariedade é entendida como um ato de cuidado ou caridade, uma ação altruísta e desinteressada em favor de pessoas em condições sociais desfavoráveis.
Quando coordenadas por movimentos sociais organizados, entretanto, as campanhas tendem a assumir contornos políticos declarados nas ações públicas de divulgação e arrecadação, ao mesmo tempo que um olhar mais atento permite observar outras camadas da dimensão política, materializadas nas redes de interações que são acionadas – mantidas, construídas ou renovadas – no contexto das campanhas.
Em nossa pesquisa, os dois movimentos analisados possuem trajetórias, bandeiras de luta e formas preferenciais de atuação distintas, de modo que as duas iniciativas assumiram formatos, temporalidades e estratégias de ação específicas, configurando arranjos de campanha por meio dos quais foram mobilizadas pessoas, recursos e narrativas em nome da solidariedade e do combate à fome.
A primeira campanha, intitulada Movimentando a Baixada Contra a Covid, foi coordenada pelo Movimenta Caxias, articulação comunitária fundada em 2017 por jovens participantes de diversas organizações e movimentos sociais urbanos de Duque de Caxias, município localizado na Baixada Fluminense3 do estado do Rio de Janeiro. Entre abril e julho de 2020, os jovens militantes distribuíram cestas básicas e cartões de alimentação para mais de 65.000 famílias em 13 municípios do estado, além de cestas de alimentos
3 Baixada Fluminense compreende um conjunto de municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, todos localizados nas imediações oeste e norte da Baía de Guanabara. Há diferentes definições e delimitações geográficas e políticas do território (SILVA, 2013), mas comumente são considerados 9 municípios: Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé.
orgânicos e agroecológicos4 fornecidas por uma empresa privada e por pequenos agricultores vinculados a outros movimentos sociais.
A segunda campanha foi coordenada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), organização de caráter nacional fundada em 1998 e que luta pela reforma agrária e pela produção agroecológica de base camponesa. No Rio de Janeiro, o MPA vem se estruturando desde 2017 por meio da construção de espaços e circuitos de comercialização para os alimentos produzidos por pequenos agricultores em diferentes partes do país. A campanha Mutirão Contra a Fome foi realizada simultaneamente em dezenove estados da federação, mas com direcionamentos específicos em cada região. No Rio de Janeiro, foco da nossa pesquisa, entre abril e dezembro de 2020 foram distribuídas 11.700 cestas de alimentos agroecológicos em favelas, aldeias indígenas e ocupações urbanas, parte delas destinadas à campanha coordenada pelo Movimenta Caxias.
Apesar de serem campanhas individuais, as observações de campo nos permitiram perceber que as duas ações estavam conectadas, uma vez que os alimentos agroecológicos distribuídos pelo Movimenta Caxias tiveram a participação do MPA, o que nos levou a analisar as duas campanhas dentro de uma perspectiva relacional. Essa parceria foi mediada pelo Coletivo Terra, associação de pequenos agricultores residentes no Assentamento Terra Prometida, também na Baixada Fluminense, e que possui um histórico de atuação política junto aos movimentos camponeses e agroecológicos.
Diante disso, a pesquisa direcionou-se para a reconstrução da teia de relações que permitiu a realização das duas iniciativas e para a compreensão dos arranjos políticos e organizacionais que possibilitaram a distribuição dos alimentos, considerando suas dimensões materiais e simbólicas. Reflexões produzidas a partir do trabalho de campo nos levaram a caracterizar essas ações como campanhas políticas de solidariedade, diferenciando-se, em muitos aspectos, do conjunto das ações filantrópicas que se multiplicaram pelo país durante a pandemia.
Nas próximas páginas, apresentaremos, de forma sintética, as questões que orientaram a pesquisa, bem como a metodologia adotada na realização do trabalho. Na sequência, discutiremos três dimensões de análise que foram
4 A distinção entre esses dois termos é alvo de um grande debate tanto na literatura científica quanto entre os movimentos sociais ligados aos campos da agricultura, da ecologia e da alimentação (BRANDENBURG, 2002; GOODMAN, 2017; NIEDERLE; ALMEIDA, 2013). Em termos gerais, os produtores e consumidores de orgânicos reivindicam uma agricultura de base ecológica e livre de fertilizantes químicos, agrotóxicos e transgênicos (cujos produtos têm sido tratados como “alimentos convencionais”), enquanto os agroecológicos questionam, também, as condições sociais de produção destes alimentos, valorizando os saberes de povos e comunidades tradicionais e a agricultura camponesa.
fundamentais para uma melhor compreensão dos casos aqui estudados: a soberania e a segurança alimentar; os circuitos curtos de comercialização; e as dinâmicas de atuação dos movimentos sociais. A partir delas, apresentaremos os principais conceitos elaborados ao longo do trabalho e finalizaremos com algumas considerações que apontem para futuras agendas de pesquisa.
METODOLOGIA
A pesquisa de mestrado foi realizada em diferentes etapas, mas pode ser caracterizada, de forma resumida, como uma investigação de base qualitativa em que se conjugou a observação etnográfica das duas campanhas (e das conexões existentes entre elas) com quatro entrevistas semiestruturadas e a análise de documentos, sites e perfis em redes sociais acessados via internet e que nos ajudaram a estabelecer as interseções entre fenômenos locais, regionais e nacionais.
Entre abril de 2020 e dezembro de 2021, participei ativamente das duas iniciativas na condição de voluntário nas entregas dos alimentos em diferentes territórios, de modo que a etnografia foi realizada principalmente em bairros e favelas de Duque de Caxias e Rio de Janeiro, estendendo-se para atuações pontuais em Teresópolis-RJ, Maricá-RJ e em Santo André-SP. Conforme as teias de relações em torno dos alimentos doados se tornavam mais visíveis, adotei as campanhas como objeto de estudo e passei a apresentar-me também como pesquisador, o que modificou a forma como eu me inseria (e era inserido) no campo.
A campanha coordenada pelo Movimenta Caxias teve vida mais curta (de abril a julho de 2020), embora tenha movimentado uma quantidade muito maior de recursos. Já a campanha coordenada pelo MPA continuou ativa mesmo após o encerramento da pesquisa, em abril de 2022, ainda que os recursos disponíveis se tornassem cada vez mais escassos. Todos esses aspectos refletiram nas análises sobre as diferentes estratégias de ação coletiva adotadas em cada uma das iniciativas.
É importante dizer que durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa estávamos submersos no contexto de pavor, incerteza e calamidade social provocados pela pandemia de Covid-19. Foram tempos de suspensão da normalidade social, o que impactou diretamente minha relação com meus interlocutores, assim como as metodologias empregadas e a análise dos resultados. Em muitos aspectos, a condução do trabalho foi inspirada pelo método de etnografia multissituada proposto por George Marcus (1995)5. Ele parte da
5 Meu primeiro contato com o método se deu através da leitura da tese de doutorado de Rosana Pinheiro Machado (2009).
percepção de que, em um mundo cada vez mais globalizado, qualquer evento local é atravessado por dinâmicas não locais, sejam elas originadas em outras localidades, sejam elas de caráter regional, nacional, internacional ou global. É evidente o impacto exercido pela pandemia sobre os diversos contextos locais, exigindo enorme capacidade de mobilização e inovação dos agentes envolvidos nas mais variadas campanhas de solidariedade. A questão que se apresenta é a de como vínculos locais e não locais foram estabelecidos na viabilização dessas duas campanhas.
Com o objetivo de analisar as decisões dos sujeitos e as relações estabelecidas entre pessoas, organizações e instituições, identificamos os fluxos de alimentos e de dinheiro que estruturaram os dois arranjos de campanha. Nesse caminho, reconstruímos analiticamente os vínculos políticos e econômicos estabelecidos, assim como as narrativas tornadas públicas pelas coordenações das campanhas como justificativas para suas ações.
Nesse longo caminho, fomos guiados por duas perguntas básicas que permearam toda a pesquisa: qual é o papel dos alimentos em cada uma das campanhas e que tipos de vínculos foram criados através deles? As estratégias adotadas por cada uma das coordenações têm muito a dizer sobre a forma como pensam os alimentos e os papeis que eles podem desempenhar na construção de vínculos entre organizações e territórios. Nas duas campanhas, o combate à fome foi o elemento unificador entre movimentos sociais de caráter bem distintos: ao mesmo tempo que imprimiram suas diferenças nos arranjos organizacionais construídos, disputaram nas arenas públicas os sentidos legítimos da solidariedade, de modo que configuraram, cada uma a seu modo, campanhas políticas de solidariedade.
INSEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME
A fome que historicamente atinge grandes parcelas da sociedade brasileira é um tema recorrente nos debates políticos e acadêmicos em nosso país. Desde a publicação do livro Geografia da Fome, por Josué de Castro (1946), a fome foi alçada ao debate público como uma questão social prioritária. As causas do problema e suas possíveis soluções – então entendidas não mais como um destino inexorável, mas como o resultado de decisões humanas e de uma estrutura socioeconômica desigual – passam a ser debatidas por diferentes perspectivas teóricas e ideológicas até ganhar centralidade nas disputas políticas das primeiras décadas do século XXI.
Nesse sentido, a primeira eleição de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência da república (2002) foi um marco histórico, uma vez que o candidato assumiu a erradicação da fome como principal promessa de campanha. Naquele momento, havia intensa mobilização da sociedade civil por meio de
campanhas de doação de alimentos, em particular o movimento capitaneado pela Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida6.
A partir de 2003, foram implementados diversos programas sociais com o novo enfoque da Segurança Alimentar e Nutricional (MALUF, 2007; SILVA, 2014), com destaque para o Programa Fome Zero, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em particular, o PAA procurava atender, pelo menos em parte, às reivindicações de movimentos sociais do campo, como o MPA e o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), que defendiam que a fome nas cidades era, também, resultado da política agrária que concentrava terras e recursos nas mãos do agronegócio, em grande parte dedicado à exportação de commodities, ao mesmo tempo em que dificultava o escoamento da produção dos pequenos agricultores, responsáveis por mais de 70% dos alimentos consumidos no Brasil.
De acordo com Kunrath e Schmitt (2012, p. 5),
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo artigo 19 de Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, surgiu, historicamente, como uma ação estruturante do Programa Fome Zero, tendo por objetivo vincular o apoio à agricultura familiar, a formação de estoques estratégicos e o atendimento a pessoas em situação de insegurança alimentar. Em termos práticos, o programa disponibiliza, através de diferentes mecanismos, alimentos adquiridos pelo Governo Federal, para o consumo de populações atendidas por programas sociais de caráter governamental e não governamental.
O ambiente de criação deste instrumento de política pública foi fortemente marcado pelo processo de mobilização social e de construção político-institucional que deu origem ao Fome Zero. A experiência social materializada na criação do Programa encontra, no entanto, suas raízes em uma trajetória histórica de mais largo prazo de construção da fome e da segurança alimentar e nutricional como “problemas públicos” no Brasil.
Em dez anos, o resultado dessa iniciativa conjunta do Estado e da sociedade civil organizada foi a retirada do Brasil, em 2014, do Mapa da Fome7. Porém, a crise econômica e política que se seguiu a partir de 2015 e as mudanças nos rumos do governo federal a partir da eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, levaram a uma rápida derrocada nos avanços até então conquistados.
6 Fundada por Betinho em 1993, o movimento em torno da Ação da Cidadania articulou ações e campanhas de combate à fome em todo o país. Disponível em: https://www.acaodacidadania.org. br/. Acesso em: 19 de março de 2024.
7 Trata-se de uma lista de países elaborada no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Outras classificações e indicadores são a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, realizado pela Rede PENSSAN.
De acordo com o primeiro relatório publicado pela Rede PENSSAN (2021), a insegurança alimentar mostrava-se, no período analisado, em franca expansão, tendo alcançado, no final de 2020, níveis similares aos de 2004, quando se começava a implementar a agenda de SAN em todo o país. De acordo com os dados apresentados, cerca de 112 milhões de pessoas sofriam, nos últimos três meses de 2019, com algum grau de insegurança alimentar, sendo que 19 milhões estavam em situação de insegurança alimentar grave, sem recursos para comprar comida suficiente para suprir suas necessidades nutricionais básicas. Em comparação com 2018, observava-se um aumento de quase 9 milhões de pessoas em apenas dois anos, revelando que a situação já vinha progressivamente se agravando antes da pandemia.
No ano seguinte, a situação da fome se deterioraria ainda mais. De acordo com os dados consolidados pelo II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (PENSSAN, 2022), em abril de 2022 havia mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, o que equivalia a 15,5% dos domicílios convivendo com a insegurança alimentar grave.
Diante desse quadro, a emergência da crise sanitária provocada pela pandemia e as medidas drásticas a serem adotadas inevitavelmente levantavam questões de cunho econômico: se a única forma de evitar a propagação do vírus era o chamado “isolamento social”, com fechamento dos equipamentos públicos e privados não essenciais e a interrupção das atividades econômicas cotidianas, como sobreviveriam as pessoas que dependiam exclusivamente de seu trabalho presencial, fossem elas trabalhadoras informais, autônomas ou biscates? Como evitar que a crise sanitária se transformasse em uma profunda crise social provocada pelo acirramento da fome?
SOBERANIA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA
A necessidade de se combater a fome pode ser considerada um consenso nacional, porém as formas como devem ser articuladas, estrategicamente, a questão agrícola e a questão alimentar, têm sido alvo de intensas disputas entre os mais variados agentes políticos e econômicos no Brasil. Por um lado, temos a tradicional elite fundiária brasileira, que concentra terras desde o período colonial e que atualmente se articula por meio de organizações vinculadas ao agronegócio, promovendo a imagem de que o Brasil seria o “celeiro do mundo” devido à sua enorme capacidade de produção e exportação de gêneros agrícolas (DELGADO, 2017; LERRER, 2020).
Beneficiários da modernização conservadora (WANDERLEY, 2015) promovida durante a ditadura civil-militar (1964-1985) defendem, muitas vezes, a intensa mecanização e utilização de insumos químicos na produção, o que
sistematicamente tem reduzido o emprego de mão de obra no campo e a intoxicação de trabalhadores rurais. Aos pequenos agricultores restaria apostar em estratégias de integração às novas estruturas de mercado, em particular adotando os mesmos modelos de produção intensiva, baseados em um número reduzido de culturas, e transformando-se em fornecedores de alimentos para as grandes empresas atacadistas. É nesse contexto que esses atores passam a ser classificados como agricultores familiares e se tornam alvo de programas governamentais direcionados (SCHNEIDER, 2016; WILKINSON, 2008).
Por outro lado, temos as organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores rurais e por políticas públicas que favoreçam os pequenos agricultores, em especial os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e os movimentos sociais do campo. Para além da luta histórica pela democratização do acesso à terra por meio de uma reforma agrária, essas organizações reivindicam políticas públicas de financiamento da produção e de apoio à comercialização de produtos oriundos da agricultura camponesa e familiar, de modo a torná-la menos dependente das grandes empresas multinacionais que dominam os mercados agrícolas.
Esses grupos foram agentes ativos na construção de uma nova agenda que inseriu o Direito Humano à Alimentação como direito fundamental a ser garantido pelo Estado brasileiro, em particular através da criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Em nível internacional, diversos coletivos e movimentos sociais organizados passaram a se articular em torno do conceito de Soberania Alimentar:
O conceito de Soberania Alimentar nasce de um contraponto do conceito de Segurança Alimentar estabelecido pela FAO, pois compreende-se que um povo para ser livre precisa ser soberano e essa soberania passa pela alimentação. O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), assim como a Via Campesina Internacional, compreende que Soberania Alimentar é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Para além disso, é um direito que os povos têm a produzir seus próprios alimentos.8
A construção desse conceito está inserida em um contexto de ampla disputa em torno da política dos alimentos, isto é, pela definição dos tipos de alimentos necessários e de que modos devem ser produzidos e distribuídos
8 Disponível em: https://mpabrasil.org.br/artigos/soberania-alimentar-deve-ser-debatida-pelo-conjunto-da-sociedade/. Publicado em: 18 out. 2016. Acesso em: 08 jun. 2021.
(HERRING, 2015). Para organizações como o MPA, o problema da fome não será resolvido apenas pelo aumento de escala da produção de gênero alimentícios tal qual defendida pelo agronegócio. São consideradas fundamentais, também, a qualidade dos alimentos e as condições sociais nas quais eles são produzidos e distribuídos (SILVA, 2019).
É nesse sentido que as narrativas políticas construídas pelos movimentos sociais têm vindo de encontro a fecundos debates acadêmicos produzidos nos últimos anos, em particular no que se convencionou chamar de “virada da qualidade” (GOODMAN, 2003; WILKINSON, 2008). A partir de estudos que têm demonstrado um maior interesse dos consumidores urbanos sobre a saudabilidade, as qualidades nutritivas e o conhecimento das origens dos alimentos ingeridos, alguns autores afirmam que essas escolhas conscientes e mesmo as ações coletivas promovidas por consumidores engajados estariam influenciando de um modo inédito as formas de produção (NIEDERLE, 2014), o que se observaria nas prateleiras de supermercados inundadas por alimentos de qualidade diferenciada, como é o caso dos produtos orgânicos ou daqueles com denominação de origem, por exemplo.
Entretanto, o enfoque nos consumidores e nos novos nichos de mercado para produtos alimentícios não parece suficiente para endereçar as problemáticas mais complexas envolvendo a política dos alimentos, principalmente quando se leva em consideração os altos preços desses produtos e o enorme contingente de pessoas em situação de insegurança alimentar, impossibilitados de acessar mesmo os produtos mais econômicos, sejam eles naturais ou industrializados.
É nesse sentido que as organizações e movimentos sociais do campo têm progressivamente incorporado a soberania alimentar e a agroecologia como ferramentas de luta, resgatando conhecimentos tradicionais e inovando em práticas agrícolas em defesa da agricultura camponesa (NIEMEYER, 2014). Em contraponto à parte da produção orgânica voltada exclusivamente para o mercado, o movimento agroecológico procura atrelar a redução do uso de insumos químicos na agricultura às condições sociais em que esta é realizada (NIEDERLE; ALMEIDA, 2013).
Assim, novas práticas ecológicas devem vir acompanhadas de mudanças nas formas hegemônicas de produção, em que se respeite os conhecimentos tradicionais e se elimine as práticas de exploração do trabalho. Entretanto, essa estratégia esbarra muitas vezes nos obstáculos ao escoamento da produção camponesa, de modo que, nos últimos anos, há um esforço coletivo para a construção de novos circuitos de comercialização pautados na solidariedade entre os trabalhadores urbanos e camponeses, buscando ao mesmo tempo garantir uma maior qualidade dos alimentos e reduzir a dependência dos pequenos agricultores em relação aos grandes atravessadores.
CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
O mercado global de alimentos tem se caracterizado por uma maior padronização dos produtos e processos envolvidos na sua produção e distribuição, aumentando as distâncias percorridas pelos alimentos na mesma proporção que diminui sua variedade e qualidade. Nesses circuitos longos, acabam por perder-se as informações sobre quem e como os produziu, restando apenas a marca e as informações impressas nas embalagens dos supermercados.
Em defesa da construção de novos sistemas agroalimentares locais, vem eclodindo uma grande diversidade de iniciativas – algumas delas tradicionais, como as feiras livres, outras mais inovadoras, como as que fazem uso da Internet – que procuram encurtar as distâncias, reaproximando o campo e a cidade por meio de estratégias de venda direta ou de redução no número de intermediários.
Em termos gerais, são iniciativas que reivindicam um maior controle social do abastecimento alimentar, o que pode envolver a construção de redes alimentares alternativas (GOODMAN; DUPUIS; GOODMAN, 2012; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2017) e/ou de circuitos curtos de comercialização (ou circuitos de proximidade) (DAROLT, 2013). Dentro dessa perspectiva analítica, a venda direta de alimentos pelos/as agricultores/as nas feiras e pontos de oferta, as cooperativas de consumidores e as cestas agroecológicas por encomenda, entre outras modalidades de comercialização, são compreendidas como iniciativas capazes de escoar a produção de pequenos agricultores a preços justos, tanto para eles quanto para os consumidores.
No Brasil, a construção de circuitos curtos tornou-se estratégica para a viabilização da produção agroecológica, uma vez que são enormes as barreiras ao escoamento da agricultura camponesa pelas redes de supermercados e mesmo pelas feiras oficializadas pelo poder público nos grandes centros urbanos. Sem dúvidas, a iniciativa mais estudada e de maior escala é a Rede Ecovida, presente nos três estados da Região Sul, porém há centenas dessas experiências espalhadas por todo o país, parte delas registradas na plataforma da Agroecologia em Rede9.
Em nossa pesquisa, percebemos que a diferença entre os alimentos agroecológicos e as cestas básicas distribuídas nas duas campanhas não se dava apenas pela qualidade dos produtos, mas também pelos circuitos acessados por seus produtores. Enquanto as cestas básicas eram compradas diretamente de grandes redes atacadistas, as cestas de alimentos agroecológicos eram organizadas pelo Coletivo Terra, que as compunha com produtos de seus associados e
9 Plataforma virtual com um mapa interativo das experiências e redes de agroecologia em todo o território nacional. Disponível em: https://agroecologiaemrede.org.br/. Acesso em: 08 jun. 2021.
de agricultores vinculados ao MPA, em particular a Associação de Produtores Rurais de Lúcios e Comunidades Vizinhas (APROLUC), entidade sediada no município de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
Em contrapartida, as cestas de alimentos orgânicos distribuídas pelo Movimenta Caxias eram fornecidas por uma empresa privada, o Clube Orgânico, que oferecia descontos de 50% quando destinadas às campanhas de doação. Nesse caso, não se sabia quem eram os verdadeiros produtores, assim como não foi possível estabelecer qualquer vínculo entre eles e as demais organizações envolvidas nas duas campanhas.
Antes mesmo da pandemia, tanto o Coletivo Terra como a APROLUC já vendiam seus produtos por meio de cestas encomendadas diretamente por consumidores, além de outras estratégias de venda (como a retirada “na porteira” e as feiras livres). O próprio MPA havia se instalado na capital do Rio de Janeiro através de um sistema próprio de feiras e cestas camponesas, originalmente sediado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por meio de um projeto de extensão, mas que a partir de 2017 ganhariam sede própria no bairro de Santa Teresa, no espaço denominado “Raízes do Brasil”, onde se desenvolveu a maior parte de minha pesquisa junto à campanha Mutirão Contra a Fome.
Com a pandemia, a demanda por cestas atingiu níveis inéditos10, já que as pessoas não podiam mais sair de casa para comprar seus alimentos. Desse modo, ao mesmo tempo em que o MPA e os produtores a ele vinculados intensificavam suas vendas, as campanhas de doação também passaram a ser estruturadas no formato de cestas, no caso do Movimenta Caxias, e no formato de feiras, utilizando um esquema em que os próprios donatários se organizavam para distribuir os alimentos, no caso do MPA.
Por sua vez, se antes da pandemia já existiam vínculos econômicos e políticos entre o MPA e o Coletivo Terra, a APROLUC foi procurada pelo MPA em função do aumento da procura pelos alimentos agroecológicos nesse período. A demanda foi impulsionada, por um lado, pelos novos consumidores que buscavam alimentos mais saudáveis, mas também pela enorme quantidade de recursos tornada disponível em resposta à calamidade social provocada pela covid-19. Todavia, em um momento posterior, esses recursos tornaram-se escassos e as campanhas perderam força, assim como se viu reduzida a demanda de cestas por encomenda. A forma como esses recursos foram acessados e utilizados nas duas campanhas foi objeto central de análise em nossa pesquisa, de modo que tivemos que nos debruçar sobre uma extensa literatura dedicada às dinâmicas características de atuação dos movimentos sociais.
10 Se até março de 2020 eram entregues, em média, 200 cestas mensais, esse número saltou para 1.500 em setembro do mesmo ano.
MOVIMENTOS SOCIAIS
Na perspectiva analítica com a qual trabalhamos na dissertação, os movimentos sociais são formas específicas de ação coletiva orientadas para a transformação social. Para Diani e Della Porta (2006, p. 19), toda ação coletiva se refere a “indivíduos compartilhando recursos em busca de objetivos coletivos — isto é, objetivos que não podem ser privatizados por nenhum de seus membros”. A ação coletiva não é, portanto, necessariamente política, tampouco está restrita à esfera pública, podendo responder por interesses privados, desde que sejam interesses de uma coletividade.
Por sua vez, os movimentos sociais se distinguem de outros modos de ação coletiva por reunirem três aspectos associados: (a) compartilham de uma identidade coletiva; (b) estão conectados por redes informais densas; (c) e estão envolvidos em relações conflituosas com oponentes claros. Possuem, portanto, uma orientação política declarada, podendo exercê-la por meio de ações concretas – como ocupações de terras, protestos contra a violência policial ou campanhas de combate à fome – e/ou por meio de narrativas públicas nas quais divulgam suas interpretações sobre uma determinada realidade ou problema social.
A disputa simbólica é travada através da constante construção e publicização de enquadramentos (SNOW, 2013), isto é, de “quadros interpretativos que simplificam e condensam o ‘mundo exterior’” (ALONSO, 2009, p. 78), reduzindo a complexidade social e revelando suas injustiças, de modo a influenciar a opinião pública e confrontar os enquadramentos de seus oponentes. Ou seja, elencam determinados problemas públicos, denunciando suas causas e principais responsáveis, ao mesmo tempo que propõem soluções.
Estamos tratando aqui de autores que propõe a separação conceitual entre os movimentos sociais – entendidos como redes amplas de relações sociais coordenadas entre indivíduos e coletividades – e as organizações que os compõem. Dessa forma, são ressaltadas a complexidade, o dinamismo e a volatilidade das interações, assim como a trajetória dos diversos eventos que configuram e situam um movimento social no tempo e no espaço, de modo que os movimentos sociais são mais amplos que as organizações que os compõem – embora muitas delas adotem o termo “movimento” em seu nome, como é o caso do Movimento dos Pequenos Agricultores e do Movimenta Caixas.
Ao analisarmos as duas campanhas, estamos lidando com uma miríade de relações entre indivíduos, coletivos informais e organizações formais – associações, fundações, partidos políticos, sindicatos, empresas – que coordenam suas ações em prol de um objetivo comum: levar alimentos a quem tem fome. Entre os coordenadores das campanhas, encontramos indivíduos com trajetórias de vida diferentes, podendo agregar em suas práticas e discursos algumas
das pautas atribuídas a movimentos sociais diversos, como os feministas, os negros, de juventude, os religiosos, entre outros.
Assim, a grande mobilização social que se formou em resposta à pandemia teve a participação de um conjunto muito heterogêneo de atores sociais. Embora grande parte tenha assumido o formato de campanhas de doação de alimentos, alguns imprimiram em suas ações uma importante carga política, seja nos discursos proferidos em defesa delas, seja na qualidade dos vínculos estabelecidos entre pessoas e organizações e que viabilizaram os fluxos de recursos e de alimentos que circularam pelos diferentes arranjos.
Em nosso trabalho, utilizamos o termo “movimentos sociais organizados” para nos referir às coordenações das duas campanhas. Além de ser uma expressão utilizada por alguns de meus interlocutores, serve também para diferenciar esses agentes das organizações formais com as quais se relacionam, assim como ajuda a ressaltar a dimensão política das ações por eles coordenadas. Nas duas iniciativas aqui analisadas, as ações foram orquestradas em um formato que visava alcançar um objetivo emergencial: a doação de alimentos em situação de crise sanitária. Porém, ao contrário de outras campanhas realizadas no mesmo período, essas duas assumiram dimensões políticas claras, uma vez que coordenadas por movimentos sociais organizados. Diante disso, nossa pesquisa procurou identificar e analisar os arranjos construídos em cada uma delas e os sentidos políticos atribuídos à solidariedade.
ARRANJOS DE CAMPANHA
Um dos principais conceitos que emergiu do nosso campo de observações e análises é o de “arranjos de campanha”. Na literatura especializada, uma das formas privilegiadas de atuação dos movimentos sociais são as campanhas, formas específicas de ação coletiva utilizadas, com maior ou menor regularidade, por movimentos sociais organizados com o objetivo de dar visibilidade às suas pautas políticas. Entretanto, as campanhas podem ser concebidas, também, como ferramentas para a construção de novas redes e fortalecimento de vínculos antigos, conferindo maior densidade às redes preexistentes (TILLY; TARROW, 2015).
Existem inúmeras modalidades de campanhas: desde abaixo-assinados, envio de cartas e e-mails para pressionar parlamentares, campanhas de ocupação de prédios públicos, ou, como é o caso deste artigo, campanhas de doação de produtos de primeira necessidade, sejam alimentos, agasalhos ou materiais de higiene pessoal. Em todas elas, as ações concretas podem ser entendidas como parte de uma comunicação política mais ampla, em que as campanhas são justificadas, nas arenas públicas, como elementos integrantes das bandeiras políticas dos movimentos (CEFAÏ, 2017).
Essa escolha conceitual tem duas implicações: a primeira é que o centro da análise não são os indivíduos e organizações, mas sim as campanhas (com prazos e estratégias específicas); a segunda é que nosso olhar está voltado para a ação em movimento e para os contextos de interação, o que significa dizer que, para além dos arranjos que as viabilizam e de seus objetivos concretos, as campanhas são eventos em que os militantes constroem e reconstroem incessantemente suas ideias e interpretações sobre os problemas sociais aos quais querem dar visibilidade.
Por sua vez, o termo “arranjo” ressalta o caráter criativo, inovador e experimental dessas campanhas, ao mesmo tempo em que joga luz sobre a incerteza e a instabilidade envolvidas nos processos políticos e no cenário de crise que as influenciou. Em grande parte, isso se deu pelo contexto inédito de pandemia e todos os riscos envolvidos, mas também por se tratar de uma característica comum aos movimentos sociais organizados, que denunciam os problemas sociais, tornando-os públicos, ao mesmo tempo em que experimentam novos mundos possíveis a partir de suas ações concretas.
Nesse aspecto, compartilhamos de muitas das reflexões apresentadas por Cefaï, Veiga e Mota (2011), para quem as pesquisas empíricas sobre as associações e o associativismo mostram as limitações e incertezas nos campos de ação, a indeterminação das regras de jogo, as alterações dos objetivos declarados ao longo do tempo e a contingência dos acontecimentos, isto é, “são menos sistemas de funções bem integradas do que produtos instáveis, sempre em transformação” (p. 16).
Nas duas experiências, os arranjos de campanha foram desenhados de modo a captar recursos que seriam destinados à compra dos alimentos, armazenamento e distribuição para as famílias donatárias. Apesar das conexões estabelecidas entre as duas iniciativas, as estruturas dos arranjos foram completamente diferentes: desde as fontes de financiamento, passando pela escolha dos alimentos a serem distribuídos, pelos territórios acessados, pelas temporalidades, quantidades e estratégias de distribuição, até pelos vínculos políticos e econômicos construídos com os mais diversos agentes envolvidos nos arranjos.
Em termos gerais, as estratégias adotadas nas duas campanhas foram muito distintas. Enquanto o MPA-RJ prezou por uma maior qualidade dos alimentos distribuídos e regularidade na sua distribuição em poucos territórios específicos, o Movimenta Caxias priorizou a quantidade, tanto no que diz respeito aos alimentos, quanto aos territórios acessados, combinando alimentos agroecológicos, orgânicos, cestas básicas e cartões de alimentação a serem utilizados em redes de supermercados.
A campanha Mutirão Contra a Fome foi estruturada no Rio de Janeiro a partir do Raízes do Brasil. Divulgada nas redes sociais e nos grupos de consumidores das Cestas Camponesas, os recursos arrecadados eram utilizados
55 na compra de alimentos ofertados por agricultores, associações e cooperativas associadas à organização, aos quais se somavam as hortaliças que não haviam sido vendidas nas duas feiras semanais realizadas no Raízes do Brasil. Parte das doações foi financiada por meio de parcerias com sindicatos e editais de instituições públicas, como a Fiocruz Mata Atlântica, assim como foi fundamental o aporte de recursos através da parceria estabelecida com a campanha coordenada pelo Movimenta Caxias.
Para a distribuição, foram organizados Comitês Populares dos Alimentos (CPAs) localizados em territórios específicos (favelas e ocupações urbanas), alguns com fontes próprias de financiamento, mas sempre por meio da articulação de agentes locais. As entregas podiam ser semanais, quinzenais ou mensais, ora organizadas no formato de feira (onde os beneficiários escolhiam o que queriam levar), ora no formato de cestas, mas sempre se aproveitava a ocasião para promover rodas de conversa em que eram debatidos vários temas e pautas políticas importantes para o MPA. Ao longo da pesquisa, fiquei responsável pelas entregas e debates realizados em dois CPAs: no Morro dos Prazeres e no Guararapes.
De acordo com o relatório consolidado que me foi cedido pela coordenação estadual da campanha, entre 9 de abril e 31 de dezembro de 2020 foram distribuídas quase 100 toneladas de alimentos agroecológicos, o equivalente a 11.700 cestas. Nesse documento, são contabilizadas também as entregas feitas via Movimenta Caxias e Coletivo Terra, de modo que se afirma ter atendido um número total de 11.196 famílias em 13 municípios do estado do Rio de Janeiro. Com relação às ações coordenadas diretamente pelo MPA, foram “acompanhadas” 277 famílias de forma sistemática através da construção de 10 Comitês Populares do Alimento.
Por sua vez, a campanha Movimentando a Baixada foi estruturada a partir do Galpão Gomeia, espaço de encontros do Movimenta Caxias e de outras organizações, localizado no centro da cidade de Duque de Caxias. Ao longo de três meses, impressionava a quantidade de cestas de alimentos que eram quase diariamente transportadas por caminhões e kombis.
Num primeiro momento, a coordenação arrecadou recursos por meio de campanhas de crowdfunding na Internet, além da doação de alimentos por parte da Ação da Cidadania. Posteriormente, conseguiu estabelecer uma parceria com a ONG Criola e o Instituto Unibanco, por meio da qual foi capaz de estruturar uma agenda de entregas em três etapas. A partir de então, construiu-se uma campanha de tamanha envergadura que chegou a 13 municípios, sendo 30 bairros somente em Duque de Caxias. No total, foram distribuídas mais de 18 mil cestas básicas e 46 mil cartões de alimentação, além de 18.200 cestas de alimentos orgânicos (fornecidas pelo Clube Orgânico) e 10.400 cestas de alimentos agroecológicos.
Os territórios de distribuição foram selecionados por meio de relações prévias de coordenadores e voluntários, sempre em parceria com moradores e/ ou organizações locais. Ao contrário do Mutirão Contra a Fome, porém, não havia uma regularidade na escolha dos locais nem dos beneficiários, de modo que muitas pessoas receberam apenas uma vez os alimentos e não tiveram qualquer contato mais próximo com os militantes.
Diagrama das etapas dos arranjos de campanha

No diagrama acima, vemos que Movimenta Caxias e MPA-RJ atuaram como intermediários entre os financiadores das duas campanhas, os produtores dos alimentos, as pessoas e organizações encarregadas pela distribuição nos territórios e os donatários finais, valendo-se de relações econômicas e políticas que forjaram, cada um à sua maneira, configurações específicas de solidariedade.
É importante observar como essas relações não foram todas previamente planejadas pelas coordenações. Em muitos casos, as decisões foram tomadas ao calor dos acontecimentos, sujeitas a acasos, pequenos sucessos e fracassos –a partir de propostas de clientes politizados, por exemplo, ou de voluntários que conheciam alguma organização dentro de um território particular. Essa criatividade e versatilidade na construção dos arranjos é uma característica recorrente em movimentos sociais organizados, acostumados a conviver com imprevistos e com dificuldades políticas e financeiras de toda ordem.
Embora MPA-RJ e Movimenta Caxias figurem na segunda coluna do diagrama (no papel de coordenadores), seus militantes participam ativamente
de todas as etapas dos arranjos, uma vez que são os mediadores entre todas as pessoas e organizações que os compõem. Ainda assim, na medida em que as campanhas se intercruzam por meio dessa mediação, o entrelaçamento de cores a partir da terceira coluna é representativo da teia de relações que tornou essas relações possíveis e que, no frenesi dos acontecimentos, escapavam mesmo ao olhar mais atento.
Com relação ao financiamento, se o MPA-RJ e o Coletivo Terra já vinham, nos últimos anos, combinando ações comerciais com dinâmicas características de movimentos sociais, o Movimenta Caxias precisou se articular com organizações vinculadas ao Terceiro Setor11 para conseguir os recursos necessários. No contexto inicial da pandemia, uma quantidade inimaginável de recursos se tornou disponível por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. De acordo com o Monitor das Doações12, até 16 de dezembro de 2020 já haviam sido destinados quase seis bilhões e meio de reais, a maior parte em dinheiro e para organizações formalizadas como pessoas jurídicas. Somente o Instituto Unibanco afirma ter distribuído, no ano de 2020, cerca de 46 milhões de reais, através do projeto Assistência Humanitária Emergencial, dos quais uma parte considerável foi destinada ao Movimenta Caxias.
Dessa forma, se as experiências prévias do MPA-RJ o levaram a pensar estratégias que abarcassem os circuitos curtos preexistentes, o Movimenta Caxias precisou acessar recursos provenientes de circuitos mais longos. Por sua vez, a disponibilidade diferencial dos recursos e os sentidos atribuídos à solidariedade por cada uma das coordenações de campanha influenciaram diretamente os arranjos, como veremos na próxima seção.
CAMPANHAS POLÍTICAS DE SOLIDARIEDADE
Em linhas gerais, estamos analisando arranjos de campanha em que movimentos sociais organizados construíram seus próprios enquadramentos sobre a pandemia e os performaram nas arenas públicas presenciais e virtuais, mobilizando pessoas, recursos e narrativas através de vínculos políticos e econômicos que permaneceriam invisíveis sem uma investigação atenta.
11 Vocabulário introduzido no Brasil nas reformas neoliberais dos anos 1990. Em termos gerais, é tratado como um conjunto de “organizações não governamentais” e “organizações sem fins lucrativos”, mas que podem atuar conjuntamente e estabelecer parcerias com o Estado (Primeiro Setor) e/ou com empresas privadas (Segundo Setor) (FERNANDES, 1997).
12 O Monitor de Doações foi uma iniciativa de organizações do Terceiro Setor para quantificar e mapear as doações feitas, no primeiro ano da pandemia, por empresas e organizações sem fins lucrativos. Todas as informações foram recolhidas no dia 16 de dezembro de 2020 e estavam disponíveis no site: https://www.monitordasdoacoes.org.br/pt. Acesso em: 16 dez. 2020. Desde então, o Monitor parece estar desatualizado.
Nos dois casos, as campanhas foram justificadas em nome da solidariedade, mas cada um dos atores envolvidos imprimiu significados práticos e simbólicos diferentes para esse termo, divisão esta que se mostrou presente em todo o universo de mobilizações sociais que tomou conta do país nesse período.
Houve campanhas com caráter mais filantrópico ou assistencialista, outras adotaram uma gramática clientelista na troca de favores e bens políticos, enquanto algumas iniciativas foram portadoras de um sentido mais político-ideológico, como aquelas coordenadas por organizações que reivindicam a si próprias o papel de movimentos sociais organizados.
Por esse e por outros motivos, estamos tratando esses dois eventos como campanhas políticas de solidariedade. De que tipo de solidariedade os diversos atores estavam falando? Solidariedade para quem ou solidariedade com quem?
De que maneiras as suas visões políticas eram traduzidas nas ações emergenciais durante a pandemia, anunciando o ideal de uma sociedade mais solidária? Que associações simbólicas foram feitas entre seus ideais e suas propostas concretas de ação política?
Em suas ações coletivas, os movimentos sociais procuram soluções pragmáticas para os problemas sociais identificados com suas pautas políticas específicas, o que costuma envolver a construção de parcerias com outros agentes.
Ao mesmo tempo, tenta-se enquadrar os problemas num discurso coerente a ser publicizado, de forma que suas ideias e ações de protesto ganhem legitimidade perante a opinião pública (CEFAÏ, 2017; SNOW, 2013).
Um dos sentidos atribuído por nossos interlocutores à ideia de solidariedade foi a de que surge de uma necessidade premente, amplificada pela inação das autoridades públicas às quais são atribuídas responsabilidades, ao mesmo tempo em que é portadora de mensagens políticas sobre um novo mundo possível, baseado na construção de laços de confiança e de organização política das massas trabalhadoras.
Nos dois casos analisados, a associação feita entre a fome, a pobreza e a desigualdade social no Brasil, com suas raízes históricas fundadas na escravização de negros e indígenas, oportunizou que organizações e movimentos sociais com origens muito diferentes pudessem se engajar coletivamente nesse tipo de ações durante a pandemia.
De acordo com os materiais divulgados pelo Movimenta Caxias, a campanha Movimentando a Baixada articulou discursivamente esses problemas sociais com a precariedade dos serviços públicos na Baixada Fluminense, conferindo destaque aos grupos sociais que, no seu modo de ver, seriam os mais prejudicados pelo fato de serem tratados de forma marginal pela sociedade e pelo Estado brasileiro: negros, mulheres, moradores de favelas e regiões periféricas.
Dessa forma, a pandemia de Covid-19 era apresentada como mais um dos fatores que contribuía para a baixa qualidade de vida e para o extermínio
sistemático dessas populações, junto à falta de acesso à saúde e à assistência social, assim como à tradicional necropolítica capitaneada pelas incursões letais da polícia em seus territórios e do encarceramento em massa da juventude negra (FERREIRA, 2019).
Na ausência de qualquer perspectiva de apoio do Estado às suas demandas, seja a nível municipal (Duque de Caxias), regional (Baixada Fluminense) ou nacional, suas comunicações públicas se destinavam a convencer a sociedade a contribuir com a campanha de solidariedade, enquadrando-a como uma ação coletiva de pessoas periféricas em favor de outras pessoas periféricas.
Já a campanha Mutirão Contra a Fome associou os mesmos temas da fome, da pobreza e da desigualdade social a uma equivocada (e interessada) política dos alimentos, em que o Estado brasileiro estaria favorecendo as grandes cadeias industriais do agronegócio e a produção de alimentos convencionais, ao mesmo tempo em que travava qualquer avanço nas políticas de reforma agrária defendidas pelos movimentos camponeses.
Nas diversas publicações de intelectuais ligados ao MPA, essas questões estariam entre as causas fundamentais da fome no campo e nas cidades, da expulsão das populações rurais para os centros urbanos, da baixa qualidade nutritiva dos alimentos produzidos e de muitos dos impactos socioambientais negativos provocados pelo agronegócio em todo o país.
Em face dessas condições estruturais, o MPA defendia a construção de políticas públicas para o abastecimento alimentar que favorecessem a agricultura camponesa e a agroecologia, de modo que suas ações comerciais nos centros urbanos, assim como as campanhas de doação de alimentos durante a pandemia faziam parte da estratégia de divulgação de suas narrativas.
Desse modo, enquanto o MPA anunciou sua campanha como uma ação de solidariedade de classe entre trabalhadores rurais e urbanos – o que incluiu tanto os consumidores de classe média quanto os beneficiários mais pobres –, o Movimenta Caxias mobilizou mais o enquadramento das periferias rurais e urbanas, em particular daquelas situadas na Baixada Fluminense, região muitas vezes esquecida pelos moradores da capital e, principalmente, pelas fontes de financiamento de projetos sociais.
Mesmo com essas diferenças, nos dois arranjos de campanha, o alimento foi o elemento central de mobilização coletiva: eixo norteador das narrativas, das pessoas e dos recursos que circularam durante esse período. A solidariedade de classe ou entre identidades periféricas foi mobilizada e organizada em nome do combate à fome, motivo pelo qual coordenadores, militantes e voluntários operacionalizaram uma complexa logística de distribuição, em nome da sobrevivência de pessoas desconhecidas e que viviam às margens da sociedade, nas periferias e favelas de grandes centros urbanos ou em comunidades de povos tradicionais.
A partir da iniciativa desses jovens militantes, foi possível gerar renda para os agricultores e para dezenas de pessoas encarregadas de garantir o escoamento da produção, num momento de extrema incerteza econômica e de graves riscos às famílias mais pobres. Por outro lado, as ações desenvolvidas extrapolaram o âmbito imediato das campanhas, somando-se às redes alimentares alternativas já existentes e contribuindo para reafirmar os valores e objetivos políticos dos diversos atores coletivos envolvidos.
CONCLUSÃO
Ao longo deste capítulo, analisamos as duas campanhas à luz de conceitos e temas de pesquisa caros às Ciências Sociais contemporâneas. Em particular, procurei demonstrar como o enfoque dado aos arranjos de campanha nos permitiu analisar as campanhas de combate à fome articulando os temas da soberania alimentar, dos circuitos curtos de comercialização e dos movimentos sociais. Em seu papel de mediadores, Movimenta Caxias e MPA-RJ foram capazes de agenciar conjuntos muito heterogêneos de doadores, voluntários, produtores de alimentos, empresas, instituições públicas e privadas, além de pessoas e organizações responsáveis pela articulação política e organização das famílias beneficiárias nos diversos territórios acessados. Estudar a forma como se deram esses agenciamentos pode ser muito útil para campanhas futuras, que certamente ocorrerão, assim como para uma análise das próprias organizações envolvidas, quanto aos métodos empregados e os resultados obtidos. Para tanto, recomendamos a leitura completa da dissertação, na qual os formatos dos arranjos e as etapas das campanhas são descritos em detalhes.
Acreditamos ser possível afirmar que o ideal de soberania alimentar ganhou materialidade nos arranjos de campanha, conforme eram incorporados os doadores, os pequenos agricultores, os trabalhadores urbanos periféricos, os militantes e simpatizantes dos movimentos sociais, assim como os diversos coletivos e organizações sociais que se envolveram nas iniciativas. Conforme distribuíam os alimentos, militantes e voluntários performavam a solidariedade como atitude prática, de apoio mútuo, na construção de uma grande rede de afetos e cuidados entre pessoas conhecidas e desconhecidas.
Acreditamos, também, que esta pesquisa poderá servir às pessoas interessadas nos novos formatos e circuitos de comercialização da agricultura familiar, sejam eles conduzidos de forma mais pragmática em vista de resultados econômicos, sejam eles construídos sobre relações políticas e ideológicas que busquem transformar os canais em alternativas ao sistema hegemônico, tanto na perspectiva da formação de preços justos quanto na defesa de uma maior qualidade dos alimentos produzidos e ingeridos. Na dissertação, há um capítulo dedicado a esses debates e como foram atualizados pelas duas campanhas.
No contexto da pandemia, o encontro entre ações comerciais e doações de alimentos contribuiu sobremaneira às discussões contemporâneas sobre os caminhos possíveis para se alcançar um maior grau de soberania alimentar ao nível dos territórios. Ao voltarmos nosso olhar para os alimentos como portadores não somente de nutrientes, mas também de significados, fomos capazes de observar as múltiplas nuances nos momentos de entrega e as particularidades nas estratégias adotadas por cada uma das coordenações.
A princípio, os papeis atribuídos aos alimentos podem ser distintos para quem doa e para quem recebe, sendo que um dos objetivos nas campanhas coordenadas por movimentos sociais organizados é transformar as experiências pessoais em experiências coletivas. O que era percebido como uma necessidade individual (matar a fome) pode passar a ser visto como um direito a ser conquistado (combate à fome). Para tanto, é preciso que o ato de doação seja também um ato de comunicação política.
Porém, o alimento não informa apenas sobre a fome, mas também sobre outros problemas sociais que os ativistas enunciam com o objetivo de transformá-los em problemas públicos. Desse modo, percebemos que, além das mediações concretas entre doadores, produtores de alimentos e donatários, Movimenta Caxias e MPA-RJ atuaram também diretamente no debate público, disputando simbolicamente as arenas públicas com seus próprios enquadramentos sobre a pandemia e sobre os sentidos políticos da solidariedade.
Enquanto o MPA-RJ defendia uma concepção de solidariedade de classe entre os trabalhadores rurais e urbanos por meio de um maior controle social do abastecimento (como em sua bandeira de luta: “aliança operário-camponesa pela soberania alimentar”), o Movimenta Caxias priorizava, em seus discursos, a solidariedade entre identidades periféricas, nelas incluídas as mulheres, os negros, os moradores de favelas e das periferias da Baixada Fluminense (como na expressão popular tantas vezes repetida por nossos interlocutores: “nós por nós”).
Desse modo, as duas concepções diferentes de solidariedade política, ancoradas e inspiradas nas trajetórias particulares das duas organizações, contribuem diretamente para a compreensão dos arranjos de campanha construídos, ao mesmo tempo que desafiam os significados comumente atribuídos à solidariedade enquanto ação filantrópica de apoio às pessoas mais necessitadas. A ação política dos movimentos sociais organizados é concomitantemente prática e simbólica: arrecada os recursos e doa os alimentos ao mesmo tempo que provoca todos os atores envolvidos a refletirem sobre seus atos e responsabilidades sobre os condicionantes – estruturais ou conjunturais – causadores das injustiças sociais as quais os movimentos sociais procuram remediar.
REFERÊNCIAS
ALONSO, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Revista Lua Nova, vol. 76, São Paulo, pp. 49-86, 2009.
BRANDENBURG, Alfio. Movimento agroecológico: trajetória, contradições e perspectivas. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 6, pp. 11-28, Paraná, jul./dez. 2002.
CASTRO, Josué de. A geografia da fome. A fome no Brasil. Rio de Janeiro: Empresa Gráfica O Cruzeiro, 1946.
CEFAÏ, Daniel. Públicos, problemas públicos e arenas públicas... O que nos ensina o pragmatismo (parte 1). Revista Novos Estudos, CEBRAP, vol. 36.01, p. 187-213, mar. 2017.
CEFAÏ, Daniel; VEIGA, Felipe; MOTA, Fábio. Arenas públicas: por uma etnografia da vida associativa. In: CEFAÏ, D.; MELLO, M. A.; MOTA, F. R.; VEIGA, F. (Orgs.). Arenas Públicas: por uma etnografia da vida associativa. Niterói: EDUFF, 2011, pp. 09-63.
DAROLT, Moacir R. Circuitos curtos de comercialização de alimentos ecológicos: reconectando produtores e consumidores. In: Niederle, Paulo André.; Almeida, Luciano de; Vezzani, Fabiane Machado (Org.). Agroecologia: práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura. Curitiba: Ed. Kairós, 2013.
DELGADO, Guilherme. Questão agrária hoje. In: DELGADO, Guilherme Costa; BERGAMASCO, Sonia Maria P. P. (Org.). Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro. Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Ministério do Desenvolvimento Agrário: Brasília, 2017.
DIANI, Mario; DELLA PORTA, Donatella. Social movements: an introduction. Malden/USA; Oxford/UK: Blackwell Publishing, 2006.
FERNANDES, Rubem. O que é o terceiro setor? Revista do Legislativo, Belo Horizonte, n. 18, p. 26-30, abr./jun. 1997. FERREIRA, Ítalo. Necropolítica no estado do Rio de Janeiro. Revista Ensaios, vol. 15, p. 107-123, 2019.
GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio (Org). Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: negócios e mercados da agricultura familiar. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017.
GOODMAN, David. The quality ‘turn’ and alternative food practices: reflections and agenda. Journal of Rural Studies, 19, p. 1-7, 2003.
GOODMAN, David; DUPUIS, Melanie; GOODMAN, Michael. Alternative food networks: knowledge, practice and politics. Londres: Ed. Routledge, 2012.
GOODMAN, David. Espaço e lugar nas redes alimentares alternativas: conectando produção e consumo. In: Gazolla, M; Schneider, S. (Orgs.). Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: negócios e mercados da agricultura familiar. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017.
HERRING, R. J. How is food political? Market, state, and knowledge. In: The Oxford handbook of food, politics, and society. Oxford: Oxford University Press, 2015.
KUNRATH, Marcelo; SCHMITT, Claudia. Políticas em rede: uma análise comparativa das interdependências entre o Programa de Aquisição de Alimentos e as redes associativas no Rio Grande do Sul e na Bahia. Artigo apresentado ao 36º Encontro Anual da ANPOCS, 2012.
LERRER, Débora. Revista Agroanalysis: a trajetória da afirmação do “agronegócio” e de consagração de seus agentes. Revista Contemporânea, vol. 10, n. 1, pp. 273-304, jan./abr. 2020.
MALUF, Renato. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis/RJ: Vozes, 2007.
MARCUS, George. Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography. Annual Reviews Anthropology, vol. 24, p. 95-117, 1995.
NIEDERLE, Paulo; ALMEIDA, Luciano; VEZZANI, Fabiane (Org). Agroecologia: Práticas, Mercados e Políticas para uma Nova Agricultura. Curitiba: Ed. Kairós, 2013.
NIEDERLE, Paulo; ALMEIDA, Luciano. A nova arquitetura para produtos orgânicos: o debate da convecionalização. In: Niederle, P; Almeida, L; Vezzane, F. (Org.). Agroecologia: práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura. Curitiba: Ed. Kairós, 2013.
NIEDERLE, Paulo. Os agricultores ecologistas nos mercados para alimentos orgânicos: contramovimentos e novos circuitos de comércio. Revista Sustentabilidade em Debate, vol. 5, n. 3, pp. 79-96, Brasília, set./dez. 2014.
PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Made in China: Produção e circulação de mercadorias no circuito China-Paraguai-Brasil. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Antropologia Social da UFRGS, 2009.
PORTO, Silvio I. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): política pública de fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia no Brasil. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa Oficial de Pós-graduação em Agroecologia da Universidade Internacional de Andalucía, 2014.
REDE PENSSAN. Insegurança alimentar e covid-19 no Brasil. VIGISAN: Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede Penssan, 2021.
REDE PENSSAN. Insegurança alimentar e covid-19 no Brasil. VIGISAN: II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede Penssan, 2022.
SCHNEIDER, Sergio. Mercados e agricultura familiar. In: Marques, F; Conterato, M; Schneider, S. Construção de Mercados e Agricultura Familiar. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2016.
SILVA, Lúcia. De Recôncavo da Guanabara à Baixada Fluminense: leitura de um território pela história. Revista de História da UNIABEU, vol. 3, n. 5, jul./ dez. 2013.
SILVA, Marcelo (Org). Plano camponês por soberania alimentar e poder popular. São Paulo: Ed. Outras Expressões, 2019.
SILVA, Sandro. A trajetória histórica da Segurança Alimentar e Nutricional na agenda política nacional: projetos, descontinuidades e consolidação. Texto para discussão nº 1953. Rio de Janeiro: IPEA, 2014.
SNOW, David. Framing and social movements. In: Snow, D; Della Porta, D; Klandermans, B; McAdam, D (Eds.). The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements. Blackwell Publishing Ltda., 2013.
TILLY, Charles; TARROW, Sidney. Contentious Politics. Oxford University Press, 2015.
WANDERLEY, Maria Nazareth Braudel. O campesinato brasileiro: uma história de resistência. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, 2015.
WILKINSON, John. Mercados, redes e valores: o novo mundo da agricultura familiar. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2008.
caPítulo 4
Para aléM do deSenvolviMento extrativiSta:
reSiStênciaS e Produção de conheciMentoS a Partir do território-corPo-terra
Liara Farias Bambirra
INTRODUÇÃO
O presente capítulo é fruto da minha dissertação de mestrado defendida em 2022, dentro da linha de pesquisa Natureza, Ciência e Saberes. A pesquisa coloca em questão o modelo de desenvolvimento extrativista minerador na América Latina e as afetações diferenciadas aos corpos e territórios das mulheres. Apesar de carregarem consequências diferenciadas pelos efeitos da lógica desenvolvimentista, as mulheres assumem também centralidade nas lutas em defesa dos seus territórios-corpos-terras. Nesse sentido, a investigação busca entender como são construídos e disseminados os conhecimentos em espaços de resistência das mulheres atingidas, a partir da Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. São investigados os impactos diferenciados de acordo com o gênero, a forma em que as mulheres atingidas resistem a partir dos seus territórios-corpos-terras, identificando as principais articulações, dimensões analíticas e como foram suas estratégias de fortalecimento de trabalho durante a pandemia de Covid-19.
Caminho ao encontro dos ensinamentos trazidos por diversas autoras, como Silvia Cusicanqui (2010) e Donna Haraway (1995), ao invocarem a necessidade de conectar a ciência com o corpo, com a terra, com as comunidades e com a vida, incluindo a capacidade parcial de traduzir conhecimentos entre comunidades muito diferentes, e diferenciadas em termos de poder. As questões que investigo e busco compreender vêm de minha atuação como militante e feminista, atenta às relações de poder que invadem nossa sociedade, e também de uma prática teórico-política construída com as lutas sociais emancipatórias. O desenvolvimento extrativista e as redes transnacionais de contestação a esse modelo fazem parte de uma estrutura de poder que é um pilar fundamental
da formação econômica e social dos países da periferia global, que mantém e renova relações coloniais, dominadoras e desiguais (ACOSTA, 2012; SVAMPA, 2012; VAINER; ARAÚJO, 1992).
A definição de extrativismo que utilizo é a que o compreende como um tipo de extração dos chamados “recursos naturais em grande escala”, orientados para serem exportados como matérias-primas não processadas, ou com processamento mínimo (GUDYNAS, 2013), de forma a consolidar uma inserção subordinada dos países extrativos ao capitalismo global e a apropriação corporativa de renda fundiária – das terras rurais, das jazidas minerais e dos campos petroleiros – e financeira (PAULANI, 2013).
As práticas extrativistas podem estar associadas à extração de minerais e petróleo, ao agronegócio, à atividade pesqueira e aos grandes complexos de infraestrutura exigidos para o escoamento desses recursos. Svampa (2012) denomina esse contexto como “desenvolvimento extrativista”, que combina a superexploração dos recursos naturais com a expansão das fronteiras territoriais. Aumentam os territórios de dominação e exploração, assim como os protestos, as resistências e as mobilizações das populações afetadas por esse suposto desenvolvimento, evidenciando conflitos ambientais ligados ao extrativismo1. Joanna Emmerick (2018) aponta que intervenções cunhadas como megaprojetos de desenvolvimento, a exemplo de grandes obras de infraestrutura, da indústria extrativa do petróleo e da mineração, compuseram o quadro de violências contra povos latino-americanos, explicitando a prevalência de fortes conflitos territoriais e ecológicos, frente aos efeitos negativos de tais intervenções. A autora, nesse sentido, reivindica a importância de avançarmos com ferramentas de leitura que permitam compreender os efeitos diferenciados dessas intervenções sobre a vida das mulheres e outros corpos feminizados. Apesar de as mulheres construírem sentidos comunitários e articularem politicamente processos de resistência às múltiplas formas de violência que lhes afetam, suas vivências permanecem ainda pouco reconhecidas e visibilizadas. As práticas feministas, diversas e multifacetadas, produzem conhecimentos e metodologias próprias de entendimento de suas realidades, muitas delas poucas vezes sistematizadas.
Assim, corroboro com Emmerick (2018), ressaltando que há um caminho importante de investigação militante sobre a construção autônoma de conhecimentos por mulheres nesses contextos, entendendo estes como caminhos de 1 Pablo Villegas (2014) mostra que há um crescimento nos conflitos ligados ao extrativismo. O autor argumenta que, “de manera general, la conflictividad social está creciendo en intensidad y extendiéndose, más allá de los movimientos socioambientales e indígenas, a los urbanos y sindicales [...]” (VILLEGAS, 2014, p. 9). De acordo com os dados do Atlas of Environmental Justice e do Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), há um aumento expressivo de conflitos mineiros no panorama geral da América Latina nas últimas décadas.
luta e resistência, assim como de comunicação de percepções e histórias pouco disseminadas em espaços como a Academia. A partir do avanço do desenvolvimento extrativista, o que acontece com os corpos e territórios das mulheres presentes nas regiões de instauração de um megaprojeto? Como são essas experiências corporificadas majoritariamente por mulheres não brancas, negras, indígenas, campesinas, trabalhadoras que vivem em áreas rurais ou urbanas?
Para tentar entender essas indagações, a pesquisa investiga os processos de construção de conhecimentos engendrados a partir dos territórios e das lutas de mulheres atingidas por megaprojetos. Para isso, assumo o questionamento epistemológico sobre o processo de produção de conhecimento, enfatizando a abertura a propostas coletivas e que assumam a vida vivida como espaço de saber (CRUZ HERNANDEZ, 2016; COLECTIVO MIRADAS CRÍTICAS
DEL TERRITORIO
DESDE EL FEMINISMO,
2014).
As práticas e políticas educacionais, reguladas pelo mercado e pela racionalidade científico-instrumental, não reconhecem os saberes produzidos pelos setores populares. Assim, esses conhecimentos foram transformados em não existência, ou seja, em ausências. Nilma Lino Gomes (2017) ressalta que os movimentos sociais são produtores e articuladores de saberes construídos por grupos não hegemônicos e/ou contra-hegemônicos da nossa sociedade.
Segundo a autora, esses movimentos são verdadeiros pedagogos nas relações sociais e políticas. O conhecimento emancipatório produzido pela sociologia, antropologia e educação no Brasil se deve ao papel educativo desempenhado pelos movimentos sociais que “indagam o conhecimento científico, fazem emergir novas temáticas, questionam conceitos e dinamizam o conhecimento” (GOMES, 2017, p. 17).
A educação popular reivindica justamente a necessidade da incorporação desses saberes construídos e reconstruídos pelos setores populares, pelas mulheres, pelos movimentos ambientalistas, partindo da escuta dessas vozes contra hegemônicas, que desafiam as premissas colocadas pelo modelo liberal extrativista. As experiências de construções coletivas de conhecimentos fortalecem o argumento de Cruz Hernández (2016) sobre a prevalência de outras epistemologias latino-americanas expressas através do corpo-território2. Acredito que reconhecê-las e compreendê-las, portanto, é um passo fundamental para construirmos realidades emancipatórias capazes de questionar essa pedagogia conservadora.
Rememoro os pilares da agroecologia – prática, ciência e movimento –(NOBRE, 2000) para ilustrar os desejos presentes em mim e nessa pesquisa: conectar a ciência com a vida, com os territórios, com as lutas das mulheres.
2 Existem distintas formas de caracterizar e se referir a esses espaços: corpo-território/ território-corpo. Isso será discutido mais adiante.
Disputo um espaço dentro do ambiente acadêmico, com todas as suas regras e metodologias, entrelaçando esses valores, pois acredito que o fazer coletivo da ciência pode estar conectado a diferentes sentidos e percepções, assim como construir redes que levem em conta as vozes, as palavras e os saberes das mulheres.
Esta pesquisa tem, portanto, como objetivo estudar os impactos do modelo de desenvolvimento extrativista nos territórios-corpos-terra das mulheres atingidas pela mineração na América Latina para entender como são construídas suas resistências e pedagogias de luta. Analiso, como estudo de caso, a Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.
A Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales nasceu em 2005 e está presente na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru e Uruguai. É uma organização de mulheres que incide em políticas, projetos e práticas que contribuem para a defesa dos direitos dos nossos povos, da natureza e dos direitos sociais que são colocados em riscos por projetos mineradoras que afetam diretamente as mulheres3
Três questões guiam esse processo de investigação, são elas:
1) Quais são os impactos diferenciados do desenvolvimento extrativista de acordo com o gênero; 2) De que forma as mulheres atingidas resistem a partir dos seus territórios-corpos-terras? e 3) Quais foram os métodos de articulação dos coletivos pertencentes à Rede, suas construções pedagógicas durante a pandemia?
Com a pandemia de Covid-19, o desejo de realizar um campo presencial foi frustrado pelo risco de contato e a falta de planejamento público unificado de normas de convivência pós-isolamento social. Adaptei minha pesquisa para investigar e conhecer essa articulação que envolve diversos países latino-americanos e que age na denúncia das violências socioambientais contra as mulheres afetadas por projetos extrativistas em seus territórios e na construção de resistências. Optei por fazer a investigação a partir das ações do grupo porque o conheci durante a pandemia, e fui aprendendo muito a partir da quantidade de materiais disponibilizados de forma virtual.
A metodologia dessa pesquisa qualitativa é uma revisão bibliográfica em torno das categorias de extrativismo/neoextrativismo, feminismo comunitário e território-corpo-terra, a partir de uma epistemologia decolonial e feminista4. Assumindo esse ponto de vista, ou seja, buscando a chamada “virada decolonial”
3 Retirado do site da organização: https://www.redlatinoamericanademujeres.org/nosotras/.
4 Ochy Curiel (2015) reitera que o feminismo decolonial é uma aposta que desestrutura a sujeita do feminismo hegemônico institucionalizado e essencialista, ao complexificar e situar uma prática política baseada em gênero, mas também a partir da raça, da sexualidade, da classe, da geopolítica, sempre situando as opressões em uma história crítica que permita entender como estas foram construídas de forma híbrida a partir das experiências coloniais.
(ALIMONDA, 2011), está uma diversidade epistêmica que nos permite descobrir uma pluralidade de lugares de enunciação, passados e presentes, em relação crítica ou resistência à modernidade colonial.
A pesquisa é também documental, já que utilizo como fonte os documentos disponibilizados no site da Rede, que escolhi como estudo de caso. Considero que, a partir deste caso específico e particular, seja possível extrair referências teóricas e empíricas para a compreensão de situações similares e de questões estruturantes mais generalizadas como a produção feminista de saber e de resistências, a partir dos efeitos diferenciados do desenvolvimento extrativista. Busquei no site publicações (artigos, livros e cartilhas) e manifestos que contextualizam o surgimento e trajetória do grupo.
DESENVOLVIMENTO
A atividade extrativista, alicerçada nas práticas de mineração, de monocultivo de plantas, do agronegócio, de gás, de petróleo e associada a complexos energéticos, faz parte da formação social dos países da América Latina e do Caribe. Definido por Alberto Acosta (2016) como atividades que removem grandes volumes de recursos naturais não processados (ou processados apenas parcialmente) e que se destinam, sobretudo, à exportação, o extrativismo não se limita aos minerais ou ao petróleo, há também extrativismo agrário, florestal e pesqueiro (ACOSTA, 2016).
Desde a época da colonização, os territórios latino-americanos são historicamente apontados como estratégicos para a atividade extrativista, explicitando uma lógica de produção capitalista que faz com que as regiões concentrem uma quantidade massiva de megaprojetos de desenvolvimento, apoiados, ainda, por aparatos políticos e econômicos dos Estados. O extrativismo assumiu diversas roupagens ao longo da história, mas permanece sendo uma constante na vida econômica, social e política de muitos países do Sul global – reforçando continuamente mecanismos de saque e apropriação colonial e neocolonial (ACOSTA, 2016). Em distintos graus de intensidade, todos os países da América Latina são ou foram atravessados por essas práticas, principalmente pela disponibilidade de recursos naturais presentes em nossos territórios.
A exploração das matérias-primas dos territórios colonizados, apesar de ser colocada como indispensável para o desenvolvimento econômico e social do Norte global, está diretamente associada à expropriação de territórios e ambientes. Isso faz com que esse sistema afete de maneira diferenciada as populações ao Sul do mundo, destacando a desigualdade ambiental, no acesso à terra e aos recursos disponíveis, apropriados para os interesses de quem não vive nos territórios. Nas últimas décadas, vêm crescendo o papel reprimarizante colocado para as economias dos países latino-americanos como um todo, com forte
incentivo do Estado, que passa a articular os recursos financeiros por meio da flexibilização de leis e fornecimento de infraestrutura aos setores extrativistas.
É a partir dessa dinâmica que alguns autores passaram a denominar esse modelo de “neoxtrativismo”, em que o Estado atua como um importante agente, com papel ativo, que busca sua legitimação por meio de uma narrativa da apropriação e redistribuição de parte da renda gerada por megaprojetos, apresentando afinidades com a emergência de governos autodefinidos como progressistas (GUDYNAS, 2016).
No início dos anos 2000, a América Latina presenciou o retorno em vigor do imaginário de desenvolvimento, em chave extrativista, ao ritmo da forte alta dos preços das matérias-primas. Diante da possibilidade de rentabilidade extraordinária, o chamado “Consenso das Commodities” obscureceu as diferenças ideológicas: seja na linguagem grosseira da desapropriação (perspectiva neoliberal), seja através do controle do excedente pelo Estado (perspectiva progressista), há uma associação multiescalar entre corporações globais e governos nacionais para a expansão de megaprojetos extrativistas (mineração, agronegócio, exploração de hidrocarbonetos, megabarragens), caracterizadas por um modo de intervenção vertical e sem consulta aos territórios e populações diretamente atingidos (SVAMPA, 2013; 2018).
O que se percebe, então, é que o paradigma neoextrativista não é uma completa inovação, mas sim uma combinação de aspectos historicamente enraizados na paisagem econômica e política latino-americana, com novos arranjos institucionais e jurídicos. O neoextrativismo, porém, carrega novos e complexos desafios para os países da região, que entrelaçam alta tecnologia, inseridos na divisão internacional do trabalho e do capital, avançando sobre novas fronteiras e, sobretudo, agravando os “efeitos derrame” da mineração (GUDYNAS, 2016).
É interessante apontar que a estruturação da Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales coincide com a ascensão dos governos progressistas da região. O início de suas ações foi em 2005, com o primeiro encontro de mulheres trabalhadoras e atingidas pela mineração – um marco importante de posicionamento contra os efeitos das atividades extrativistas, e não somente por demandas trabalhistas. Em 2005, houve o Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, em Cerro de Pasco, Peru.
Em documentos de memória da história do grupo, o período de 2004 a 2005 é destacado a partir do contexto de expansão da mineração na América Latina, do aumento dos preços de minerais e metais a nível mundial, do governo Lula no Brasil e do surgimento de múltiplos movimentos sociais frente às atividades extrativistas 5. Isso nos mostra as convergências
5 Um exemplo é a Articulação Internacional de Atingidos e Atingidas pela Vale, que em 2009 articulou diversas organizações, movimentos e acadêmicos no Brasil e em outros países do mundo para
71 dos governos progressistas com as agendas alinhadas com a expansão das atividades extrativistas.
A publicação da Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales mostra que com a atuação estatal como cúmplice dos processos de injustiça ambiental
Os Estados não garantiram a devida defesa dos direitos humanos das mulheres em particular, cujas ameaças e violações foram se multiplicaram nesses processos de resistência, tanto por sua condição de mulheres, bem como por sua condição de defensoras, deixando a grande maioria de casos em absoluta impunidade (Luchas de mujeres defensoras contra el extractivismo minero en el Abya Yala, p. 121, 2021, tradução própria)6
A consolidação do extrativismo minerador tem implicado mudanças profundas em todas as dimensões sociais, como indica Machado Aráoz (2014). O autor aponta a contundência e eficácia do regime minerador, que conforma um novo cenário socioterritorial regional, tanto no plano macro das instituições e suas variáveis estruturais, como em nível micro, das subjetividades e das experiências da vida cotidiana. São realidades manifestadas em um cenário de conflitividade estrutural em torno do território como espaço de vida e projeto político.
Quando assumimos que os corpos que ocupam o território não são iguais e que dependem dos papéis socialmente colocados segundo o gênero, raça, classe, etnia (além de outros marcadores sociais), surge a pergunta: que lugar ocupam os corpos das mulheres nos territórios afetados por megaprojetos? As feminilidades e masculinidades se produzem e reproduzem junto a tudo que une simbolicamente as(os) sujeitas(os) com seu lugar. Delmy Hernández (2016), sobre isso, nos ensina:
Embora defende a menção de que o espaço é socialmente construído, essa construção tem um referente e é patriarcal, as mulheres e os corpos femininos não são vistos como parte dele, apenas adicionados a ele; então, ficamos na desigualdade e ainda mais se etnia, classe, raça e idade forem articuladas no debate (HERNÁNDEZ, 2016, p. 41, tradução própria)7
fortalecer o enfrentamento aos impactos causados pela indústria extrativa da mineração, sobretudo os vinculados à empresa Vale S.A. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração começou a ser articulado em 2012, período do governo do PT de Dilma Roussef.
6 Do original: Los Estados no garantizaron la debida defensa de los derechos humanos de las mujeres en particular, cuyas amenazas y violaciones se multiplicaron en estos procesos de resistencia, tanto por su condición de mujer, como por su condición de defensoras, dejando en la gran mayoría de los casos en absoluta impunidad.
7 Do original: Si bien defienden la mención de que el espacio se construye socialmente, esta construcción tiene un referente y es patriarcal, las mujeres y los cuerpos femeninos no son vistos como
Diversas análises, reflexões e mobilizações que mostram os efeitos diferenciados das intervenções extrativistas nas vidas das mulheres têm sido construídas, considerando o aprofundamento das formas de controle patriarcal e racista sobre seus corpos e territórios. Fabrina Furtado e Carmen Andriolli (2021) analisam como a violência, inerente aos conflitos ambientais decorrentes da lógica desenvolvimentista, está também associada à violência contra as mulheres, principalmente àquelas que dependem de seus territórios para garantir o sustento e a vida de suas famílias.
O neoextrativismo, como modo que se esforça para se apropriar do território destruindo as condições básicas para a garantia da vida, faz nublar ou desaparecer as condições para cuidar adequadamente da corporalidade. Sem meios para habitar, não pode haver modos de vida dignos que garantam a sobrevivência. A territorialidade é parte do que nos constitui, e se expressa na forma como nos relacionamos com o mundo. Para Ana Luisa Queiroz e Marina Praça (2020), há uma relação indissociável em nossos corpos como extensão da vida e das afetações vividas, ou seja, as práticas cotidianas e as paisagens dos territórios se confundem com os próprios corpos das mulheres. As autoras insistem que nada do que acontece a um território deixa de ser sentido pelo corpo de uma mulher que faz daquele lugar morada: “as mulheres sentem de forma particular as lutas territoriais, pois além dos impactos gerais, vivenciam a opressão estrutural do patriarcado sobre suas vidas. Em muitos casos, dentro das suas próprias organizações, comunidades e casas.” (QUEIROZ; PRAÇA, 2020, p. 6).
Os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Pacs8 também têm contribuído para o debate sobre os efeitos diferenciados dessas intervenções nas vidas das mulheres, considerando que elas aprofundam formas de controle heteropatriarcal e racista sobre seus corpos e vidas. Esses impactos são explicados a partir da sobrecarga de trabalhos domésticos e com os cuidados das famílias e da comunidade em decorrência do agravamento da saúde por causa dos projetos de desenvolvimento: a falta de autonomia financeira; a exploração dos corpos de mulheres e meninas e a negação das mulheres como sujeitos políticos e de direitos demonstram como as desigualdades de gênero são alimentadas pelo desenvolvimento capitalista (INSTITUTO PACS; 2017, 2021).
A penetração das atividades extrativistas pelas empresas acarreta transformações socioterritoriais, como a ruptura com atividades produtivas e parte de él, solo se le suman; entonces, nos quedamos con la desigualdad y más si en el debate se articula etnia, clase, raza y edad.
8 O Instituto Politicas Alternativas para o Cone Sul desenvolve muitas ações e investigações sobre megaempreendimentos e a construção de alternativas e resistências pelas mulheres atingidas por eles, como a publicação Mulheres Atingidas: territórios atravessados por megaprojetos. Disponível em: http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao/mulheres-atingidas-territorios-atravessados-por-megaprojetos/.
reprodutivas prévias, gerando profundas consequências na gestão e sustentabilidade dos territórios. Dessa maneira, a territorialização de megaprojetos extrativistas pressiona para reconfigurar os territórios em que estão situados, produzindo uma “nova ordem patriarcal, que conflui, se enraíza, aprofunda e reatualiza a existência de relações machistas prévias” (GARCÍA-TORREZ, 2020, p. 32). O racismo e o patriarcado são aspectos que se acentuam nesse contexto. A deterioração das condições ambientais aumenta os problemas de saúde das populações atingidas e, se historicamente as mulheres são responsabilizadas pelas práticas de cuidado, recaem também sobre elas a sobrecarga de trabalhos domésticos e de cuidados com a comunidade em decorrência do agravamento da saúde das pessoas no território.
A perda dos fundamentos naturais do território que garantiam estruturas vitais implica uma transformação radical dos estilos de vida, incluindo a soberania e a segurança alimentar, pilar de muitos territórios. São impedidas práticas não monetarizadas de circulação de valor, importantes para a segurança alimentar e nutricional das populações, como o plantio em quintais, cultivo de sementes, atividades historicamente relacionadas às mulheres, além de não serem incluídas nas negociações de reparação nos casos de crimes que atingem diretamente os terrenos das casas, destruindo-os (INSTITUTO PACS, 2020).
Outro aspecto a ser destacado é que mulheres e crianças, geralmente encarregados da administração da água para a comunidade, devem se deslocar para locais mais distantes para acessá-la, pois alguns mananciais se perdem ou passam a ser controlados pela empresa responsável pelo megaprojeto. As populações também podem ser diretamente desapropriadas de suas moradias, ou indiretamente – quando seus territórios perdem a vitalidade, onde o sustento de seus cotidianos não existe mais. Essas afetações fazem com que muitas vezes as pessoas sejam obrigadas a mudarem de moradia, desconectando-se às suas territorialidades.
É relevante apontar que os empregos colocados pela indústria da mineração são predominantemente destinados aos homens, fazendo com que as mulheres nem sequer sejam levadas em conta nas opções laborais impostas em seus territórios. É estabelecida, então, a masculinização da força de trabalho empregada direta e indiretamente pela mineração, intensificando violações de direitos específicas às mulheres, como mostra Cecília Melo (2020).
A autora destaca que, por empregar força de trabalho massivamente masculina, a implantação e operação de megaprojetos agrava a divisão sexual do trabalho: às mulheres resta realizar o trabalho reprodutivo e de cuidado, seja dentro de casa sem remuneração, seja fora de casa na prestação de serviços de limpeza, cuidado e cozinha, sujeitas à informalidade e à precarização, visto como ajuda ao trabalho do homem. Em qualquer cenário, são jogadas para as esferas sociais mais invisibilizadas e desvalorizadas da cadeia produtiva imposta pela mineração, o que aprofunda a dependência econômica em relação aos
homens de seu círculo familiar. Por isso, o neoextrativismo se torna representativo da ameaça às atividades produtivas lideradas por mulheres e, portanto, de suas autonomias, sendo uma prática que exacerba o machismo.
As atividades de mineração tornam-se um elo fundamental nos enclaves das economias masculinizadas: são principalmente os homens que as desenvolvem, o que gera uma reconfiguração na priorização das atividades socioeconômicas que são realizadas nos territórios uma vez instaladas essas empresas, com tratamento utilitário e monetário em relação à natureza. Nesse sentido, a mineração contribui para a feminização do empobrecimento por meio da violência econômica expressa no baixo vínculo empregatício das mulheres (em 2006, as mulheres detinham 19,8% da força de trabalho no setor de mineração), precárias condições de trabalho, como afirmado pelo relatório da Global Witness em 2021.
O aumento de casos de estupro e o aumento do mercado sexual nas áreas de mineração são indicadores que expressam a deterioração social das mulheres nesse contexto. Em ambientes com atividade extrativista, a demanda por serviços sexuais aumenta, principalmente por conta de a mão de obra utilizada pelas empresas ser predominantemente masculina. Além disso, a violência sexual e o uso de as violações coletivas passam a costurar uma forma de punição ou retaliação às ações promovidas pelos movimentos de resistência aos projetos de desenvolvimento (INSTITUTO PACS, 2021).
Ulloa (2020) aponta a construção de alternativas ao desenvolvimento e reconhecimento de outros modos de viver baseados na defesa da vida, que representam alternativas ao capitalismo neoliberal e patriarcado – conectadas a uma crítica do modelo de desenvolvimento econômico. Para a autora, a Ecologia Política Feminista é como um espaço fundamental para pensar e propor formas alternativas de sociedade e de relação entre o homem e a natureza. Nesse compromisso com o futuro, a necessidade de incorporação da visão das mulheres, acadêmicas e ativistas da América Latina, sobre alternativas contra-hegemônicas à governança ambiental neoliberal se manifesta como um horizonte político alternativo.
Dizer que a EPF é um lugar político-intelectual para propor a construção de outros mundos implica também trazer a ideia da descolonização do conhecimento para a prática de pesquisa e as relações com aquelas organizações, movimentos e comunidades de mulheres afetadas por mudanças e intervenções ambientais ou que estão problematizando/agindo em defesa de seus territórios. A Ecologia Política Feminista se torna ainda mais urgente considerando o contexto atual da região, cuja trajetória tem mostrado crescente feminização das lutas, principalmente as ambientais (SVAMPA, 2015). Para Svampa (2021), essa mudança ecoterritorial nas lutas é visível com o fortalecimento das lutas ancestrais pela terra, protagonizadas por movimentos indígenas e camponeses,
assim como no surgimento de novas formas de mobilização e participação cidadã, ONGs ambientalistas com lógica de movimento social, redes críticas de intelectuais e especialistas, grupos regionais de vários tipos, experiências agroecológicas, focadas na defesa da terra e dos territórios, na redefinição do comum, da biodiversidade e da relação com a natureza.
Para os feminismos em torno da defesa do território, não se trata de sacralizar a natureza nem essencializar o vínculo com ela, mas sim de defender a terra e o território, mostrando que a sustentabilidade da vida e do planeta se baseia em outro vínculo com o corpo e com a natureza, tanto material como espiritual, no quadro de uma epistemologia das emoções e de afetos (SVAMPA, 2021). Isso considerando que o homem branco, sujeito hegemônico da razão do conhecimento ocidental, distanciou-se do sentir como fonte de enunciação científica. Contudo, o sentir e o pensar não estão deslocados (SIMAS; RUFINO, 2019)9.
Essa aproximação do sentir e do pensar é colocada como fundamental por feministas comunitárias. O sentir-pensar (CABNAL, 2010) materializa-se em uma busca pelo valor da diversidade epistêmica e política como base das possíveis articulações da prática feminista antirracista e antipatriarcal. Os feminismos territoriais, como o feminismo comunitário, fazem parte de um processo de construção epistêmica, que se tece no território a partir do corpo e sua relação com a terra. Ou seja, o feminismo territorial das mulheres das montanhas, mais do que o resultado de elaborações teórico/ intelectuais ou acadêmicas, é “uma forma de viver a vida”, como enfatiza Gargallo (2015), que está profundamente vinculada com o território-corpo-terra. A conexão profunda entre corpo e território tem sido incorporada a partir de diferentes perspectivas. Lorena Cabnal (2010), feminista comunitária maya-xinka da Guatemala, afirma que o patriarcado originário ancestral é refuncionalizado com toda a penetração do patriarcado ocidental10. Nessa situação histórica, eles são contextualizados, e configuram suas próprias manifestações e expressões que são o berço para o nascimento da perversidade do racismo, o capitalismo, neoliberalismo, globalização. Isso se expressa na conceituação do “entronque patriarcal”.
Segundo essa visão, a colonização provocou um entronque entre patriarcados, um original e ancestral e um ocidental, branco e cristão. Esse entronque
9 Os autores provocam reflexões acerca do ser: “O que é o ser se não uma vibração que vagueia no arrebate ritmado e ganha corpo através do sopro? Na ciência do encante, o ser é um todo. Assim, a palavra do caboclo é parte de si, a vibração do caboclo é a prova de que a sua existência corre a gira da história e permanece como continuidade, supravivência.” (SIMAS; RUFINO, 2019, p. 11).
10 Para Cabnal, patriarcado é o sistema de todas as opressões, explorações, violências e discriminações que ele vive toda a humanidade (mulheres homens e pessoas intersexuais) e a natureza, como um sistema historicamente construído sobre o corpo sexuado das mulheres.
explica sua existência universal e particular no contexto e permite relacionar a forma como a terra é compreendida nessa cosmovisão e suas implicações para as mulheres na relação profunda que possuem com ela. É uma combinação de opressões, que subordina a terra e as mulheres. Se o patriarcado surge em sua elaboração como o sistema fundante de outras opressões, sendo anterior ao processo de colonização, foi através da colonização que se constituíram sujeitos racializados, inaugurando assim o racismo como novo sistema de opressão histórico-estrutural. Seu nódulo central estaria na violência epistêmica projetada sobre os povos, desprezando suas histórias e seus saberes. Para romper com esses entroncamentos, o feminismo comunitário centraliza o território nas discussões e ações emancipatórias. Nesse caminho, o território não pode ser compreendido sem sua cosmovisão e sem a profunda relação cósmica que tem com a terra em seu ser (e não apenas seu “estar”).
A recuperação do território-corpo-terra é uma proposta feminista que integra a luta histórica e cotidiana pela recuperação e defesa do território terra como garantia de um espaço territorial concreto onde se manifesta a vida dos corpos. Em outras palavras, a defesa – e a própria existência – do corpo-território está diretamente ligada à defesa do território-terra, um não pode existir sem o outro. O território-corpo é, então, um continuum com a terra (FEDERECI, 2022), na qual a placenta dos recém-nascidos é frequentemente enterrada, uma vez que ambos possuem memória histórica e estão igualmente implicados no processo de libertação. Trata-se de uma aposta que parte de um “continnum de resistência, transgressão e epistemologia de mulheres em espaços e temporalidades para a abolição do patriarcado” (CABNAL, 2010, p. 12). Para Lorena Cabnal (2020), o território-corpo-terra tem força cosmogônica e política, é uma unidade relacional – o território corpo e o território terra fazem parte de uma mesma unidade. É uma consigna política, que aposta na recuperação do corpo, e para “defendê-lo do ataque histórico estrutural torna-se uma luta cotidiana e indispensável, pois o território do corpo foi milenarmente um território em disputa pelos patriarcados, para garantir sua sustentabilidade de e sobre o corpo das mulheres” (CABNAL, 2010, p. 23, tradução própria)11. É uma abordagem que nos convida a recuperar o corpo para promover vida com dignidade de um lugar em concreto, reconhecer sua resistência histórica e sua dimensionalidade de potência transgressora, transformadora e criadora.
Segundo Cabnal (2010), recuperar e defender o corpo envolve também provocar conscientemente o desmonte dos pactos masculinos com os quais
11 Do original: Recuperar el cuerpo para defender lo del embate histórico estructural que atenta contra él, se vuelve una lucha cotidiana e indispensable, porque el territorio cuerpo, ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados, para asegurar su sostenibilidad desde y sobre el cuerpo de las mujeres.
convivemos, implica questionar e provocar o desmantelamento de nossos corpos femininos para sua liberdade. A invasão gera uma penetração colonial que se configura como “uma condição para a perpetuação de múltiplas desvantagens para as mulheres originárias” (CABNAL, 2010, p. 15) – condições de descriminação que se perpetuam até os dias atuais e são acentuadas com a chegada de megaprojetos12.
Pensar processos pedagógicos a partir do território-corpo-terra significa considerar a dinâmica da expansão da rede que entrelaça o Estado e o capital que afeta a terra. Significa pensar o território-corpo-terra como categoria de conhecimento a ser discutido a partir da razão, mas também das afetações aos corpos, principalmente os feminizados. Entendo essa expressão usada muitas vezes por Lorena Cabnal como a conexão afetiva, solidária, acionada por distintas estratégias de coletivização das lutas ao redor da reprodução, da garantia das vidas humanas e não humanas e da conformação de corpos coletivos que sustentam territorialidades de luta pela defesa e pela construção de territórios plurais. Organizar e resistir a partir do corpo em contextos pedagógicos significa reconhecer e revelar essas marcas também das diferenças/desigualdades e sua natureza sociocultural limitante e violenta, que atravessam até os mesmos espaços de militância e da educação popular. Em muitas cartilhas e memórias de encontros elaborados pela Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, a categoria território-corpo-terra é acionada. Em documentos mais recentes, o grupo parte das seguintes dimensões analíticas como apostas teórico-política: Território-Corpo, Território-Terra e Território Organizacional, como variáveis interconectadas a partir das quais pensam os impactos, mas também a resistência das mulheres atingidas. É importante destacar que todas essas dimensões territoriais formam uma unidade relacional, mas, para garantir uma visibilização dos impactos nas diferentes camadas de vida, o grupo faz essa separação para fins didáticos e metodológicos.
É no espaço-tempo das práticas cotidianas, sem deixar de enquadrar o contexto de violência, que as estratégias e reflexões de defesa do corpo-território-terra são criadas. Cabnal (2010) enfatiza justamente a necessidade de politizar o corpo nos processos cotidianos. Um território-corpo que “gera vida, alegria, vitalidade, prazeres e construção de saberes libertadores”, e um território-terra do qual a mulher precisa para garantir a subsistência e reprodução material e cultural de suas comunidades e dignificar a sua própria existência e promover a vida (CABNAL, 2010, p. 23). A cura cósmica e política dos corpos para a harmonização com a terra passa pela recuperação e defesa de nossos territórios-corpos-terra.
12 Vale ressaltar que há pensadoras feministas que não consideram a existência de relações de gênero antes da colonização, como Maria Lugones e Oyèrónk ẹ́ Oyěwùmí.
Há mais de 15 anos, a Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales fortalece diferentes lutas das mulheres contra os impactos do extrativismo da mineração. Desde a perspectiva de conflitos de mineração em que comunidades e processos organizacionais participam em desvantagem em relação aos atores extrativistas, posicionamos o lugar da mulher na defesa dos territórios e dos tecidos comunitários para a vida (ALIAGA; FUENTES; BECERA; VEGA; VÁZQUEZ, 2021, tradução própria).
Para isso, a Rede fomenta espaços de reflexão, de fortalecimento, de combate às múltiplas violências que atravessam as vidas das mulheres. É a força da construção coletiva que as impulsiona a continuar desafiando contextos que constantemente questionam seus lugares nas lutas em defesa de seus territórios. Nesse sentido, é relevante conectar as articulações da Rede com aportes teóricos e práticos que foram discutidos ao longo da pesquisa. Diante da desapropriação e da exploração das territorialidades afetadas pelo extrativismo, o grupo constrói pontes entre o feminismo, a natureza e os territórios, conectando com as contribuições da ecologia política feminista latino-americana, assim como os feminismos comunitários. Dessa maneira, percebemos que essas reflexões e práticas convergem como ferramentas acionadas para ampliar nossos olhares e análises, dando importância também aos sentimentos, à experiência sensível que sentimos em nossos territórios e corpos. São caminhos que procuram pensamentos e ações para transformar as vidas das mulheres atingidas e defensoras.
Entender o cotidiano como instância de aprendizagens, fortalecer gramáticas não normativas são esforços necessários para entendermos expressões e saberes comunitários das mulheres atingidas. Quais são os caminhos possíveis para os saberes construídos no cotidiano, nas práticas políticas das mulheres atingidas, diante um mundo obcecado pelo paradigma da grandeza, da totalidade? O cotidiano, mais que um campo inventivo, múltiplo e inacabado, pode se inscrever também como inventário de diferentes saberes e rotas.
Os coletivos, unidos em Rede, constituem movimentos e atravessam fronteiras e mostram possibilidades de ser a partir da coletivização das lutas pelo território e nos mostram facetas pedagógicas que nos provocam para outras formas de ser e de agir. A defesa do território, da aldeia, para Simas e Rufino (2019) na construção do campo que se abre para vivermos outros modos “perpassa pela firmeza dos moradores de todos os cantos que sustentam essa casa chamada vida” (SIMAS; RUFINO, 2019, p. 12). A partir de uma reivindicação da importância da experiência sensível, a Rede ressalta que são os nossos corpos que encarnam a nossa vida, a nossa memória e são os sentidos que nos ligam aos territórios. Por isso, o que acontece nos territórios está impresso no corpo: tristeza pela exploração, angústia pela contaminação, alegria em construir outros mundos apesar das violências.
Durante a pandemia de Covid-19, as experiências das integrantes da Rede foram atravessadas pelas dificuldades trazidas pela maior emergência sanitária dos últimos tempos. Somado aos problemas de disseminação do Coronavírus e falta de subsídios e programas assistenciais para as populações de Abya Yala, a Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizou alguns trabalhos mostrando como esse cenário atingiu suas formas de organização. O grupo reestruturou suas ações a partir de abril de 2020, recolhendo as necessidades das participantes e entendendo as capacidades de trabalho da Rede nessa situação. Reuniões intensivas de trabalho e assembleias semanais foram os espaços que as permitiram costurar e aprender juntas como iriam trabalhar e estar juntas naquele momento. Considerando a necessidade central de desenvolver estratégias para a proteção e ajuda para as defensoras que cuidam dos corpos e territórios como lugares centrais da vida, o grupo se propôs a:
– Denunciar, acompanhar politicamente, tornar visível e fazer incidência internacional de casos de mulheres defensoras vítimas de agressões e violências políticas socioambientais extrativistas, utilizando meios virtuais;
– Aprofundar e abordar a reflexão e debate sobre a crítica ao desenvolvimento, ao extrativismo e aos sistemas de poder que lhes dão suporte, desde a construção própria de uma abordagem que incorpora diversas experiências e correntes do pensamento feminista, a partir dos feminismos comunitários – perspectivas que fortalecem a ação do grupo em defesa das defensoras, potencializando a proteção e capacidades de intercâmbio;
– Gerar espaços de formação, intercâmbio e aprendizagens entre procedimentos de organização, resistência e construção de conhecimentos sobre processos críticos ao extrativismo minerador, a partir da perspectiva feminista, aproveitando as novas tecnologias;
– Tecer novas alianças com organizações com pautas em comum – acordar políticas e incidências com movimentos ou organizações locais, assim como com outras redes de cooperação internacional;
– Criar e fortalecer ferramentas de comunicação digital, aprimorando as redes sociais, adaptando o trabalho em contexto de crise global.
Uma das ferramentas utilizadas pelo grupo foi o Diagnóstico Territorial 2020/2021, em que as mulheres latino-americanas afetadas pelas atividades extrativistas mineradoras tornaram visíveis suas lutas através da construção coletiva de conhecimento, em um diagnóstico territorial. Esse diagnóstico evidencia como durante a pandemia global as fronteiras extrativistas nos territórios foram expandidas. As análises permitiram um maior conhecimento da
situação das mulheres atingidas – esse conhecimento fez com que a incidência política fosse direcionada às denúncias nas instâncias pertinentes, estabelecendo protocolos e políticas públicas de salvaguarda e segurança das defensoras. Como metodologias de ação, a Rede trabalhou:
– Fortalecimento das capacidades: ações de conscientização, treinamento, comunicação, coordenação e negociação através do qual algumas das organizações participantes se tornaram fortalecidas e agora têm novas capacidades para dar continuidade às diferentes linhas de ação que estão sendo implementadas na Rede;
– Fortalecimento de alianças: estabelecimento e construção de alianças com diversas organizações, o que permitiu fortalecer diversas ferramentas que contribuem para a defesa dos direitos das mulheres e natureza e a articulação regional das defensoras. Assim, conseguiram ampliar alianças com outras organizações, articulações e campanhas em diversos territórios, inclusive continentais, como as alianças Sul-Sul na África e na Ásia, que foram possíveis graças aos espaços de encontro com organizações desses continentes, inclusive de forma virtual, em decorrência da pandemia;
– Incidência a nível continental: a partir da articulação das mulheres e o fortalecimento de seus próprios espaços organizacionais, a Rede conquistou em diversos casos o reconhecimento de agressões sofridas por mulheres acometidas por projetos extrativistas, bem como uma maior e melhor autorrepresentação dentro das próprias organizações e com as comunidades com as quais interagem. Mulheres líderes que enfrentam processos de violação de direitos foram fortalecidas pelo trabalho em rede que, embora global, visa fortalecer seu trabalho e presença em cada território por meio do trabalho coletivo e promover ainda mais a valorização das vozes das mulheres;
– Aprofundamento de outras formas de resposta à violência extrativista contra mulheres, como práticas organizacionais de articulação e de solidariedade territorial que estão ocorrendo entre comunidades. Essas novas formas de resposta refletem um resultado do trabalho dos 15 anos de história da Rede, que possibilitou o fortalecimento o tecido de alianças na América Central e do Sul, entre organizações que compõem a Rede e aliados territoriais;
– Avanços na consolidação da Rede na América Central: esse processo permitiu conhecer territórios, organizações, comunidades, realidades e companheiros muito valiosos para o processo de organização da Rede, para a concretização de estratégias de alianças contra conflitos extrativistas, bem como para a integração dessas organizações. Em fevereiro
e março de 2020, a Rede percorreu El Salvador e Guatemala e vários espaços de encontro com mulheres diversas para continuar fortalecendo o trabalho na América Central.
Outra significativa ferramenta metodológica e de fomento aos espaços de debate foram os Encontros virtuais denominados de “ Feminismos territoriales y ecologismos diversos en Abya Yala” com mais de 80 mulheres de Abya Yala, Ásia e África. À vista disso, ao longo dos últimos anos, percebemos como a pandemia da Covid-19 mudou diversos padrões da sociedade, entre os quais o modo de comunicação das pessoas, a exemplo do aumento dos encontros virtuais que, mediante o distanciamento social, passou a ser utilizada em grande escala, inclusive por autoridades, artistas, professores e diversos outros profissionais.
Durante os meses de junho a dezembro de 2020, com o Instituto de Estudos Ecológicos do Terceiro Mundo e Jubileu Américas do Sul, o grupo realizou encontros virtuais para tecer encontros, resistências, emoções e alianças com mulheres de diferentes lugares de Abya Yala, África e Ásia, que estão em resistência territorial e em busca de fortalecer as lutas contra o extrativismo e que vêm refletindo sobre a intersecção da luta das mulheres e a defesa dos territórios. No âmbito desses eventos foram abordados diversos temas: racismo ambiental e a exploração dos povos e da natureza; transições de mulheres, territórios e natureza; economias comunitárias: uma visão crítica das alternativas; Alianças Sul-Sul para a defesa de corpos e territórios; violência ambiental contra mulheres, com diversos intercâmbios e workshops. Dentro dos processos informativos utilizados pelas organizações integrantes da Rede dado o contexto geral adverso, notou-se a importância da aderência às suas próprias estratégias de comunicação para continuar resistindo. Ao mesmo tempo, e de acordo com as diferentes possibilidades de acesso às virtualidades, viram a necessidade de adaptar-se às novas formas de comunicação e para aprender novas tecnologias. Dessa maneira, mais pessoas aderiram e se juntaram ao apoio de lutas locais, apesar das dificuldades durante a pandemia. No entanto, é importante notar que essas estratégias não são adequadas para todos os contextos, especialmente os mais rurais, em alguns dos quais a mídia virtual não é uma alternativa que pode substituir completamente a importância do trabalho informativo e organizacional presencial.
No contexto da pandemia, muitos viram a necessidade de se adaptar às novas tecnologias, introduzindo o virtual de acordo com suas condições de vida e meio ambiente, e/ou, em outros casos, reafirmando e valorizando as formas de comunicação e práticas sociais. Apesar da pandemia, muitas comunidades foram obrigadas a sair às ruas como forma de continuar exercendo seus direitos de autodeterminação, arriscando duplamente suas vidas.
Esses movimentos passam por diversos processos de ressignificação e construção coletiva de saberes, mostrando uma maneira de fazer política que pode fomentar estratégias pedagógicas essenciais para o desenho de uma realidade emancipatória. Esse saber construído social e coletivamente não está inserido dentro da lógica da ciência hegemônica, mas se constitui como alternativa para pensarmos jeitos próprios de criar, aprender e concretizar verdadeira mudança da dependência moderno-capitalista. Entender a emergência desses saberes é importante para destronarmos o cânone, como um ato político que toca nas múltiplas camadas das nossas existências a questão do esquecimento (RUFINO, 2020)13
É interessante pensar a pedagogia de luta das mulheres atingidas por megaprojetos extrativista como chave para pensar lógicas desviantes a esse modelo. As resistências desde os territórios e corpos das mulheres se concretizam em experiências corporificadas, com práticas de saberes que – através de noções previamente trabalhadas como território-corpo-terra, mulheres atingidas e defensoras – caminham na contramão da lógica do desenvolvimento extrativista, que é produtora de desvios e aniquilações. Esses conhecimentos, então, emergem como um radical vivo, corporal, vibrante, dialógico, inacabado, alteritário, comunitário, produtor de presença, dúvida, vivência e partilha.
Parida e parteira de si e de muitos outros, a educação remete a processos sempre coletivos, afetivos, conflituosos, despedaçamentos e remontagens do ser. Rufino (2021) proclama a educação como forma de erguer existências, mobilizá-las, uma encataria implicada em contrariar toda e qualquer lógica de dominação. A educação como dimensão política, ética, estética e de prática do saber comprometida com a diversidade das existências e das experiências sociais é, em suma, um radical descolonizador (RUFINO, 2021, p. 12), que convoca à demanda da reparação, da recuperação de suas dignidades existenciais e de sua ética, ao assumir compromisso com relações horizontais e ecológicas. Simas e Rufino (2019) mostram que é justamente com as perspectivas dos modos de sentir/fazer/pensar das múltiplas presenças, culturas, gramáticas e educações que podemos buscar transgredir com as estruturas coloniais do saber, enunciando e credibilizando a existência e as práticas de conhecimento desse outro historicamente subalternizado.
As mulheres de Abya Yala estão justamente na subalternidade colocada pelos pilares coloniais que estruturam nossa região. Por isso é interessante
13 Rufino (2020) reivindica, nesse sentido, uma desaprendizagem do cânone, como ato político e pedagógico se insere na capacidade de recuperação de sonhos e no alargamento de subjetividades que foram e são assombradas pelo desencanto. O sonho, nesse caso, se expressa como uma espécie de alargamento do tempo, do espaço e da fruição de linguagens que possam mobilizar outras maneiras de sentir a vida.
destacar que, na Rede, as mulheres se unem e formam encontros com outras comunidades e territórios para compartilhar experiências, apoiar umas às outras e construir espaços seguros nos quais se sintam livres para falar e curar seus traumas, compartilhar estratégias para a vida familiar e organizacional e fortalecer umas às outras. As defensoras e ativistas que lutam em defesa de seus territórios se organizam em suas comunidades a partir das práticas cotidianas, dos afetos e afetações tecidas de forma compartilhada. Dando materialidade ao que os autores pontuam,
É a partir do encante que os saberes se dinamizam e pegam carona nas asas do vento, encruzando caminhos, atando versos, desenhando gestos, soprando sons, assentando chãos e encarnando corpos. Na miudeza da vida comum os saberes se encantam, e são reinventados os sentidos do mundo (SIMAS; RUFINO, 2018, P. 13).
CONCLUSÕES
É fundamental apontar o modelo de desenvolvimento neoextrativista como um pilar de dominação colocado para os países da América Latina, que segue deixando rastros de dominação, destruição da natureza e das práticas comunitárias em nome do progresso e da modernização. O desenvolvimento neoextrativista carrega marcas profundas de uma agenda colonial que segue sendo ditada aos territórios de Abya Yala. Por isso, é de suma relevância tratar a colonialidade como um evento que ainda permanece afetando nossas existências.
Os territórios atingidos, o trabalho precarizado e os corpos violentados e inviabilizados possuem cor, gênero e territorialidade. São corpos considerados pelos que detêm o poder como descartáveis, que podem ser violentados, com condições precarizadas de saúde. Assim, os impactos da mineração são diferenciados para as mulheres que enfrentam obstáculos na reconstrução dos seus modos de vida, a partir da falta de autonomia financeira e de títulos de propriedade, que dificultam processos de indenização ou reparação. A violação e a exploração dos corpos de mulheres e meninas e a negação das mulheres como sujeitos políticos e de direitos demonstram como as desigualdades de gênero são incentivadas pelo desenvolvimento capitalista.
Nesse sentido, a trajetória da Rede indica alternativas a esse cenário. O grupo caminha exatamente para visibilizar as afetações promovidas pelo extrativismo nos territórios-corpos e territórios-terra das mulheres, e age denunciando a violência socioambiental contra as mulheres atingidas por projetos de mineração extrativista em seus territórios. Além disso, promove ações que salvaguardam a integridade física, emocional e comunitária das mulheres em situação de alto risco, tanto pelo grau de vulnerabilidade derivado de sua atuação como
defensoras dos direitos humanos, quanto por sua participação em processos de resistência aos projetos extrativistas que afetam seus territórios.
A pesquisa tentou pensar os conhecimentos gerados pela Rede como campos de possibilidade – sendo uma aposta política e epistemológica, crucial para um reposicionamento ético e das populações e das suas produções, que historicamente foram vistas a partir de rigores totalitários. Assim, se torna imprescindível uma ampliação do conceito de colonização, assumindo também seu caráter cosmogônico, que constrói políticas de ataque, controle e desencantamento dos seres e suas múltiplas gramáticas. A educação como descolonização está implicada, dessa maneira, a uma política de vida, contrariando o que dita a agenda dominante. A descolonização demanda corpos políticos que possam insurgir, se rebelar e confrontar as opressões mantidas na arquitetura da modernidade.
A atuação da Rede analisada como estudo de caso e os impactos diferenciados causados pelo extrativismo para as mulheres nos revelam três dimensões importantes. A primeira é que o território-corpo-terra é uma categoria e estratégia do sentir e pensar potente para visibilizar marcas do modelo de desenvolvimento no cotidiano de mulheres atingidas e mulheres defensoras, trazendo a importância das emoções em defesa dos territórios. Isso é de extrema valia porque os impactos emocionais dos projetos de mineração muitas vezes são omitidos em análises dos conflitos ambientais. Construir abordagens acadêmicas que articulem impactos físicos, mentais e emocionais, então, é uma possibilidade para construir estudos que abarquem todas as dimensões impactadas por esses conflitos. A abordagem do corpo-território-terra é uma categoria teórica e política que pode ajudar em processos de resistência, de cartografia de emoções e construção de alternativas das comunidades que seguem tentando parar com os efeitos desenfreados do extrativismo minerador.
Pensar processos pedagógicos a partir do território-corpo-terra significa considerar a dinâmica da expansão da rede que entrelaça o Estado e o capital que afeta a terra. Significa pensar o território-corpo-terra como categoria de conhecimento a ser discutido a partir da razão, mas também das afetações aos corpos, principalmente os feminizados. Nesse último ponto, vale ressaltar que outra dimensão importante destacada pelas feministas comunitárias é a inclusão do próprio corpo nas metodologias de aprendizagem e de ação.
A segunda dimensão é a importância da organização comunitária e da construção de redes que articulam organizações e movimentos, no entendimento de que, apesar dos conflitos socioambientais serem manifestados com particularidades locais, fazem parte de uma estrutura regional. As alternativas ao desenvolvimento são fortalecidas quando articuladas de maneira coletiva.
A terceira dimensão é adaptabilidade e resiliência da Rede durante o contexto da pandemia de Covid-19, uma das maiores crises sanitárias dos últimos
e
85 tempos. Os meios de comunicação das organizações integrantes precisaram passar por uma investida massiva nos ambientes e tecnologias virtuais para as defensoras continuarem denunciando as violações em seus territórios, assim como para criarem espaços de construção coletiva, como reuniões, rodas de conversa e encontros de saberes.
Dentro e fora da Academia, o trabalho de construir estratégias de visibilização dos impactos desse modelo ainda colonial que segue fazendo parte da formação política, social e econômica dos territórios latino-americanos se torna um importante imperativo para reencantar o mundo. Assim, afirmar a presença de práticas comprometidas com a diversidade e com o caráter ecológico das existências é um exercício contínuo da agenda comprometida com a emancipação social.
REFERÊNCIAS
ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia. Literária, Elefante, 2016.
CABNAL, Lorena. Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala (pp. 11-25). En Feminismos diversos – El feminismo comunitario. Madrid: Las Segovias: ACSUR. 2010.
COLECTIVO Miradas Críticas Del Territorio Desde El Feminismo (2017). Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territórios. Quito: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo ∕ CLACSO.
COLECTIVO Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. La vida en el centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave feminista. Edit. Saramanta Warmikuna. Ecuador, Quito. 2014.
CRUZ HERNÁNDEZ, Delmy Tania. Uma mirada muy outra a los territórios-cuerpos femininos. SOLAR, Revista de Filosofia iberoamericana, año 12, vol. 12-1. ISSN: 1816-2924. 2016.
CUSICANQUI, Silvia. Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. Buenos Aires, Argentina: Ed. Tinta Limón. 2015.
CURIEL, Ochy. La descolonización desde una propuesta feminista crítica. Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala. 2015.
FEDERECI, Silvia. La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La construcción de la «diferencia» en la «transición al capitalismo» En Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación capitalista. Historia y Traficantes de sueños, p. 85-176. 2010.
FURTADO, Fabrina; ANDRIOLLI, Carmen. Mulheres atingidas por megaprojetos em tempos de pandemia: conflitos e resistências. Revista Estudos Sociedade e Agricultora. 2020.
GARCÍA-TORRES, Miriam; VÁSQUEZ, Eva; CRUZ, Delmy Tania; JIMENEZ, Manuel Bayon. Extractivismo y (re)patriarcalización de los territorios. In: Cuerpos, territorios y feminismos: compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas. Cruz Hernandez, Delmy Tania y Jimenez Bayon, Manuel (orgs). Del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo y Grupo de Trabajo de Clacso “Cuerpos, territorios y feminismos”. Bajo Tierra ediciones. 2020.
GLOBAL WITNESS. Última línea de defensa. Disponível em: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/. 2021.
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. 2017.
GUDYNAS, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual (In: Jürgen Schuldt et al., Extractivismo, política y sociedad. Quito: Centro Andino de
Acción Popular e Centro Latino Americano de Ecología Social, 2009); id., “La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo” (Íconos, Revista de Ciencias Sociales, Quito, Flacso, n. 36, p. 53-67, 2010).
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Situando diferenças, v. 5. 1995.
INSTITUTO PACS. Mulheres atingidas: territórios atravessados por megaprojetos. Orgs: Ana Luisa Queiroz, Marina Praça, Yasmin Bitencourt. 1. ed. Rio de Janeiro: Instituto Pacs, 2021. Vários colaboradores.
MACHADO ARAÓZ, Horacio. Minería transnacional, neocolonialismo y conflictos socioambientales en América Latina. Mimeo. Buenos Aires: CLACSO. 2010.
___________. Territorios y cuerpos en disputa: Extractivismo minero y ecologia política de las emociones. en: INTERSTÍCIOS. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 8. 2014.
NOBRE, Miriam. Agroecologia e economia feminista: tecendo a sustentabilidade da vida. Revista NEADS, v. 1, n. 1. 2000. Disponível em: https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/09/8-Texto-do-Artigo-87-1-10-20200612.pdf
PAULANI, Leda. Acumulação sistêmica, poupança externa e rentismo: observações sobre o caso brasileiro. Estudos avançados 27, 237-264, 2013.
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES. Hilando redes en Abya Yala, en tiempos de pandemia. 2022.
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES. La situación de riesgo y criminalización de las defensoras del medioambiente en América Latina. 2018.
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES. Memoria Anual 2020. Disponível em: https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
RUFINO, Luiz. Vence-demanda: educação e descolonização. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2021.
SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Flecha no tempo. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.
SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.
SEABRA EMMERICK, Joana. Construindo leituras feministas sobre territórios atingidos por megaprojetos de desenvolvimento. Encontro da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero. 2018.
SVAMPA, Maristella. Feminismos ecoterritoriais na América Latina entre as violências patriarcal e extrativista e a interconexão com a natureza. 2021.
ULLOA, Astrid. Feminismo socioambiental: revitalizando el debate desde América Latina. Ecologia política feminista latinoamericana. 2020.
ULLOA, Astrid. Feminismo territoriales, en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. NÓMADAS 45: 123-139. 2016.
VAINER, C. B.; ARAÚJO, F. G. B. Grandes Projetos Hidrelétricos e desenvolvimento regional. Rio de Janeiro: CEDI, 1992.
caPítulo 5
aS dinâMicaS ruraiS conteMPorâneaS
ProPorcionaM novaS PoSSibilidadeS
Para aS MulhereS? uMa análiSe do
aProveitaMento de oPortunidadeS eM uM
MunicíPio do interior PauliSta
Ariane Favareto
INTRODUÇÃO
As áreas rurais estão em constantes transformações que foram acirradas nas últimas décadas, sobretudo pela intensificação de atividades não agrícolas como principais fontes de renda, pela alteração da paisagem dada a extensão de monoculturas, pela aceleração de alterações climáticas, pelo acesso por parte da agricultura familiar a uma gama de políticas públicas e pelas relações de interdependências cada vez mais estreitas entre o rural e o urbano. Todo esse contexto conduz a novas dinâmicas que alteram a forma como as populações rurais se relacionam e se reproduzem socialmente.
Também nas últimas décadas, o debate sobre igualdade nas relações sociais de gênero vem sendo acentuado e estimulado, incluindo a necessidade de seu alcance para o desenvolvimento dos países. Por exemplo, o quinto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) contém metas a serem alcançadas até 2030. Os países membros devem envidar esforços para acabar com a discriminação e a violência contra mulheres, eliminar práticas como o casamento infantil, promover garantias para acesso aos direitos reprodutivos, estabelecer garantias de acesso a processos decisórios, e promover o compartilhamento de atividades domésticas.
As pesquisas realizadas sobre o papel da mulher no ambiente produtivo em áreas rurais do interior paulista destacavam a presença delas como secundária, colocando as mulheres numa posição hierárquica inferior aos homens. O papel delas se daria, prioritariamente, em atividades relacionadas ao ambiente doméstico, sem acesso aos espaços que poderiam ensejar maior interação com outros
indivíduos e proporcionar maior poder de decisão. Tal situação é expressa em pares de oposição que colocam homens e mulheres em dois mundos apartados e que orientam a divisão de tarefas no ambiente produtivo, por exemplo, público/ privado e casa/roçado (BRANDÃO, 1983; BRANDÃO, 1995; WILLEMS, 1947; SHIRLEY, 1971). Apesar dessa identificação, os autores não explicitam as razões que suportavam tal diferenciação.
Ao focar nos sujeitos e não nas unidades produtivas, outras pesquisadoras iluminam que são os valores morais que privilegiam a posição masculina na hierarquia social (FUKUI, 1979). Tais valores conformam espaços ideologicamente dominantes e que são socialmente representados (WOORTMANN, 1992). Não é, portanto, apenas a divisão de atividades que determina a subordinação das mulheres aos homens, mas o conjunto de representações que evidenciam a identidade das mulheres rurais. São justamente essas representações que podem ser ressignificadas nas dinâmicas recentes da ruralidade contemporânea de modo a possibilitar às mulheres se beneficiarem de novas oportunidades.
A análise da constituição de valores e representações remete à existência de diferentes papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. Esses valores são reproduzidos ao longo das gerações. Portanto, compreender a maneira como se dão as construções sociais é essencial para identificar os processos de socialização que conduzem as mulheres a empreender determinadas formas de ser e viver. Tal análise permite, ainda, compreender de que maneira e em quais domínios há a reprodução das diferenças e a manutenção – ou a subversão – de relações de poder. Em outras palavras, sua própria condição no mundo social. Para isso, o conceito de configuração social (ELIAS, 1980) se apresenta como uma importante ferramenta de análise, pois permite compreender a forma como as representações são constituídas e modificadas ao longo do tempo e ensejam novas oportunidades de atuação para homens e mulheres.
O objetivo deste artigo reside, portanto, em compreender se as dinâmicas rurais contemporâneas geram novas oportunidades para as mulheres e de que forma elas são – ou não – aproveitadas, recorrendo, para isso, ao conceito de configuração social. Para o sociólogo alemão, a interdependência entre os indivíduos revela formações sociais só compreensíveis por meio da análise de processos que identificam transformações amplas e contínuas nas configurações, permitindo compreender mudanças decisivas nas relações de poder que favorecem determinadas posições sociais em detrimento de outras. Analisar as relações de gênero com essa lente contribui para que se desvie o foco unicamente do indivíduo ou da oposição entre homens e mulheres, permitindo que se relacione a trajetória das mulheres, o lugar em que viveram, e os macroprocessos sociais e econômicos que atravessam suas vivências. Essa leitura contribui para o entendimento das condições em que são geradas as oportunidades e que podem, em última instância, influenciar as relações de poder entre os gêneros.
A pesquisa foi realizada no município de Cunha, localizado no vale do Paraíba paulista, que apresenta características rurais contemporâneas, representadas pelo desenvolvimento de novas atividades econômicas e pela entrada de agentes sociais que influenciam a configuração local. Partiu-se do desenho da trajetória histórica do lugar, a fim de compreender em que condições a cidade se articulou com os macroprocessos de desenvolvimento. Estudos etnográficos produzidos no município em meados do século passado contribuíram para a construção desse retrato. A análise de dados secundários também foi utilizada para compor o quadro de análise. A pesquisa de campo foi realizada em etapas que contaram com observação, participação em eventos, entrevistas com informantes-chave, visitas aos agricultores e, por fim, entrevistas com mulheres que atuam em atividades econômicas desenvolvidas na atualidade no município. As entrevistas foram realizadas de modo a reconstruir suas trajetórias desde a infância a fim de compreender como se deram as relações sociais estabelecidas ao longo da vida e como isso influenciou o aproveitamento de oportunidades. Ao todo foram realizadas mais de 50 entrevistas entre os anos de 2015 e 2019. Os resultados obtidos estão descritos nas próximas páginas que conta, além dessa introdução, com mais quatro seções. A seguir são apresentados os principais aspectos do conceito de configuração social e sua utilidade para estudos das relações de gênero. A segunda seção traz uma apresentação sobre o município em análise, evidenciando a forma como se articularam os macroprocessos econômicos e sociais que contribuíram para a formação de uma identidade específica. Além disso, são apresentadas as principais atividades econômicas desenvolvidas no município que culminam na abertura de novas possibilidades. A terceira seção apresenta as evidências da ampliação do campo de possíveis das mulheres a partir das novas dinâmicas do rural contemporâneo, destacando a forma heterogênea de aproveitamento das oportunidades. Por fim, são tecidas algumas considerações finais que confirmam a validade do uso do conceito de configurações sociais para análises de relações de gênero e a sua potencialidade em outras pesquisas.
O CONCEITO DE CONFIGURAÇÃO SOCIAL
De maneira geral, é possível dizer que as análises sociais sobre o mundo ocidental, especialmente aquelas que se destinaram a compreender o papel da mulher no mundo rural, estiveram baseadas em dualidades. Para Strathern (2006), a tendência em reconhecer a dominação masculina como responsável pela submissão da mulher conduz à universalização de um princípio de organização das relações sociais sustentado na construção de uma identidade a partir de outra. Nesse caso, a identidade feminina como consequência da masculina. Essa leitura tem por tendência ignorar as relações em si, colocando peso
nos termos dicotômicos e assimétricos. Isso não significa dizer que as relações de gênero não são assimétricas, mas que a “(...) ocupação destas posições por homens e mulheres é sempre transitória. No centro da assimetria encontra-se o fato de que um agente não é concebido como capaz de apropriar-se dos atos do outro” (STRATHERN, 2006, p. 476). Para superar a dualidade posta nos binômios homem/mulher e público/privado, a análise deve recair sobre a produção das diferenças, uma vez que, ao insistir na dualidade, define-se o espaço doméstico como feminino e o espaço público como masculino, sendo esse último entendido como coletivo. Dessa forma, a oposição entre público e privado é constituinte, também, da oposição entre indivíduo e sociedade.
A oposição entre indivíduo e sociedade representa um antigo debate nas Ciências Sociais. O sociólogo Norbert Elias (1994; 1980; 2001) estabelece o conceito de interdependência na busca por dissolver essa dicotomia. Esse conceito substituiria uma visão reificada das pessoas que tem o componente central na figura do eu/ego rodeado pelas estruturas sociais ao que o autor denomina “homo clausus”. Ao invés de conceber uma leitura em que a sociedade é constituída por estruturas sociais desumanizadas exteriores ao indivíduo, Elias propõe que as pessoas se conectem umas às outras pela realização de necessidades emocionais por meio da aprendizagem social, da educação, da socialização e das carências recíprocas geradas socialmente. Nessa abordagem relacional proposta pelo autor, é por meio de disposições e inclinações que os indivíduos se orientam uns aos outros, constituindo uma rede de interdependências de modo a realizar a união entre indivíduo e sociedade. Essa rede de interdependências seria formada a partir do que o autor denomina, utilizando um conceito da Física, de “valências abertas”. Dessa forma, os indivíduos estariam em relação com pessoas que suprissem suas valências para satisfazê-las e assim estabelecer relações e articulações, de onde surgem as interdependências. Essas dependências recíprocas são condições fundamentais que revelam uma formação social ao que Elias denomina de “configuração”, ou seja, um agrupamento de seres humanos interdependentes que se reconhecem e interagem por meio de símbolos socialmente aprendidos. É na análise dos processos sociais que se identificam as transformações amplas e contínuas nas configurações, permitindo a compreensão de mudanças decisivas nas relações de poder que favorecem determinadas posições sociais em detrimento de outras (ELIAS, 2006).
Dessa forma, esclarece Elias (2001), cada indivíduo faz parte de uma rede de pessoas dependentes umas das outras desde a infância, com relações de interdependências onde o indivíduo possui relativa autonomia de decisão. Essa relativa liberdade está ancorada na distribuição de poder entre os homens e mulheres na configuração em que o indivíduo está inserido. Não há destituição de poder e nem poder absoluto entre os indivíduos; o cerne de conflitos
reside, justamente, na tentativa de manter as formas assimétricas em que a distribuição de poder se dá nas relações.
A análise dos processos de mudanças sociais deve, portanto, seguir duas linhas relacionadas: as mudanças ocorridas na sociedade, expressas nos comportamentos e nas relações entre os indivíduos, e as alterações estruturais, expressas nas instituições. Ambas são mutáveis e interdependentes do mesmo processo. Em outras palavras, é importante estabelecer uma análise que considere o processo histórico como constitutivo das relações de poder, como também as estruturas de personalidade dos indivíduos que só podem ser compreendidos em relação com a configuração social na qual estão inseridos. Elias aponta (1997; 2006) que durante o século XX algumas relações tiveram alterações no diferencial de poder, incluindo homens e mulheres, mas também entre gerações mais jovens e mais velhas, entre sociedades europeias e suas colônias, e entre governantes e governados1.
Seguindo o raciocínio do autor, as mais variadas dimensões da vida humana seriam, então, majoritariamente presididas por homens que, por sua vez, reproduziriam suas chances efetivas de poder, provocando uma manutenção do desequilíbrio de forças nas relações de interpendência nas configurações sociais. Baseado nas ideias de Norbert Elias, há questões relevantes para a análise das relações sociais de gênero. As teorias engendradas por ele permitem uma inovação nas pesquisas direcionadas às práticas sociais de mulheres, especialmente por guiar o foco para as relações de poder que são expressas no comportamento, cujas chances reais de distribuição estão colocadas na estrutura do campo social que as produziu. Dessa forma – e em consonância com as noções preconizadas por Strathern –, há o entendimento de que as mulheres não são simbolizadas como indivíduos destituídos de poder, não são passivas e impotentes frente a ações unilaterais. Opostamente, a construção do que é ser homem ou ser mulher – e os referenciais de poder embutidos nas relações –é constituída na alteridade, cujas ações definem múltiplas posições dos agentes nas relações estabelecidas onde são mobilizadas determinadas capacidades que se revelam na interação com os outros.
Compreender que as capacidades são acionadas nos processos de interação torna a análise das trajetórias das mulheres um importante instrumento para se pensar as configurações sociais, pois permite identificar as interações
1 Apesar de ter estruturado sua linha de pensamento a partir de análises institucionais, Elias publica em 1985 um artigo em que considera que seu arcabouço teórico pode ser utilizado para se pensar as relações de poder entre homens e mulheres, uma vez que os homens comandam mais recursos de poder do que as mulheres. O autor cita a propriedade da terra, o acesso à educação, o casamento e o divórcio, e a ocupação em espaços decisórios como exemplos de processos históricos que invisibilizam as mulheres enquanto indivíduos independentes e de direitos próprios. Cf. Elias (1985).
realizadas ao longo da vida e que despertam determinadas formas de vivenciar o mundo, influenciando a marcação de determinados valores e ideologias. Assim, não há homogeneização na hierarquia da posição das mulheres na sociedade, como também nas próprias relações de gênero. As análises direcionadas ao aproveitamento de oportunidades por parte das mulheres vai além de um olhar estritamente individual que colocaria apenas nelas a responsabilidade de seus destinos ou, ainda, de uma visão que reporta somente às estruturas sociais a reprodução de padrões de comportamentos sociais.
Além das trajetórias individuais, uma análise dos processos sociais, culturais e econômicos que as mulheres vivenciaram conformam o quadro de análise. Para isso, a próxima seção é dedicada à caracterização do município de Cunha e os processos que contribuíram no desenho de oportunidades e na constituição de determinados valores para a população local.
TRAJETÓRIA DO LUGAR: O MUNICÍPIO DE CUNHA (SP)
Investigar a forma como o município de Cunha se inseriu nos ciclos de desenvolvimento pelos quais o estado de São Paulo e o país passaram ao longo dos séculos desvela as oportunidades e os constrangimentos que refletiram nas trajetórias de vida das pessoas que ali vivem. Essa análise colabora na identificação da configuração do lugar e na conformação de representações e identidades. Já as atividades econômicas mais recentes são apresentadas numa tentativa de promover a gênese do processo que as originou, o que revela os principais agentes envolvidos nesse processo.
O ciclo do ouro marca um primeiro momento em que Cunha passa a ter importância no cenário estadual, abrigando parte da Estrada Real. Dada sua localização estratégica próxima ao município de Paraty, o início do século XVIII foi palco de intensa movimentação na região e determinou as primeiras povoações, sendo Cunha um local de pouso para quem subia os morros da cidade litorânea fluminense rumo à exploração aurífera em Minas Gerais. A necessidade de abastecimento das tropas estimulou as primeiras atividades comerciais, caracterizadas pela produção de alimentos e pelos serviços de pouso. O tropeirismo representou mais que o simples transporte de mercadorias, já que os tropeiros eram portadores de notícias, boatos e novos costumes (ANTONIO FILHO, 2012), representando uma figura essencial nos processos de interação social naquele período.
Em fins do século XVIII, ocorre o esgotamento das minas de ouro, coincidindo com outro ciclo de desenvolvimento: a produção de café, que passa a ganhar corpo no estado do Rio de Janeiro, cujo auge data de 1850. Nesse período, Cunha já havia deixado de ser um pouso importante para as tropas que carregavam ouro, devido aos constantes roubos de carga em Paraty, mas
as atividades dos tropeiros continuaram a fazer parte da cidade. Apesar do espraiamento da produção de café para o estado de São Paulo, o município de Cunha não adere a essa nova produção, pois está localizado em terras altas e sujeitas a geadas, deixando a cidade à margem do desenvolvimento econômico que o ciclo do café traz para o estado de São Paulo no século XIX.
Nesse período, que é também considerado importante para a urbanização dos municípios paulistas, Cunha se volta para uma produção de subsistência e sua cultura toma “uma feição cada vez mais local e rural” (WILLEMS, 1947, p. 16), abastecendo com seus produtos agrícolas as cidades vizinhas que se dedicavam à monocultura do café. O fim da escravidão, em conjunto com um esgotamento da terra contribuem para o declínio da produção de café no vale do Paraíba, promovendo uma estagnação econômica na região. Em Cunha, na primeira parte do século XIX e primeiro quarto do século XX, havia um mínimo de contato urbano. A economia do município girava em torno de atividades domésticas, escolares e comércio de mercadorias (SHIRLEY, 1971; WILLEMS, 1947).
O início do processo de industrialização é marcado no país pela crise de 1929 e pela queda da renda advinda das exportações de café, tendo por principal agente o Estado, que altera as estratégias de desenvolvimento do país por meio da passagem de um modelo agroexportador para a economia industrial. O processo de industrialização traz alterações espaciais e o fluxo de pessoas passa a ser concentrado nas cidades que vão se tornando mais complexas e estratificadas do ponto de vista da divisão social do trabalho, com maior disposição de infraestrutura. Essas modificações refletem também na vida social2 A descentralização da industrialização para o interior do estado, incluindo o vale do Paraíba, ocorre na década de 1970.
Carlos Rodrigues Brandão (1983) esclarece que a realidade posta no estado de São Paulo, dada a liberdade dos escravizados e a escassez de indígenas, levou a uma mudança no olhar em busca de uma identidade própria que culminou na valorização do caipira, lavrado com características peculiares como a alta mobilidade dada pela ausência de posse de terra, e um código social próprio que repousa no respeito mútuo, na fé religiosa, na honra e na solidariedade. Porém, as relações são mediadas por uma ética do favor e por uma dependência, dada sua posição marginal no sistema mercantil. Durante a expansão da industrialização, essa representação do caipira se altera e passa a ser vista como algo a ser superado com conotações de ingenuidade, preguiça, rusticidade e ausência de ambições.
2 Wirth (1976) sintetiza na ideia de “urbanismo” a existência de um modo de vida específico para o meio urbano que seria disseminado pelos meios de comunicação e transporte, tendo como principais atributos a alta densidade demográfica e a heterogeneidade dos indivíduos.
Com o processo de descentralização da industrialização direcionado para o interior do estado, Cunha passa a ser novamente fornecedora de produtos agrícolas para os municípios vizinhos. Contudo, o padrão alimentar mudara e abre-se demanda para carnes e laticínios. Essa mudança promoveu a emergência de uma classe média rural, provocando o desaparecimento da sociedade “caipira tradicional” que permaneceu existindo nos bairros mais distantes do centro da cidade (SHIRLEY, 1971). Tanto esse autor como Willems, dois pesquisadores do município, concluem que as tradições relacionadas a um modo de vida rural estavam em transição e fadadas ao desaparecimento diante da urbanização, mas, apesar disso, ressaltam a existência de um modo de vida arraigado em antigas práticas.
As mulheres também foram retratadas de alguma maneira nos estudos sobre o rural paulista3. Brandão (1983; 1995; 1999), por exemplo, descreve as práticas sociais e produtivas de homens e mulheres. Desde a infância, as meninas eram orientadas paras as tarefas domésticas junto às suas mães, enquanto os meninos seguiam os pais no trabalho na roça. As decisões sobre o que seria cultivado e as formas de comercialização ficavam sob responsabilidade dos homens da família. Além disso, havia diferenciais na ocupação dos espaços, sendo que os homens ocupavam os lugares “de fora”, incluindo os espaços de negociação, e as mulheres estavam voltadas “para dentro” da casa, tendo sob seu domínio as “aves de pena” e as verduras. O autor ainda destaca que atividades que contavam com algum tipo de “saber” ficavam a cargo dos homens. Apesar dessa clara apartação de espaços e atividades, Brandão aponta que há momentos em que as tarefas são compartilhadas.
Para Candido (2001), a família caipira é uma organização familiar patriarcal, mas as mudanças trazidas com o processo de urbanização geram um afastamento de algumas antigas práticas, como, por exemplo, o casamento arranjado pelo pai das moças, realizados precocemente entre os 13 e 20 anos de idade. Para além dos aspectos relacionados à plantação, o autor pontua a presença das mulheres no beneficiamento da produção e no trabalho doméstico e de cuidado. O número de filhos era abundante. Vale lembrar que na época em que realiza sua pesquisa, na década de 1950, não havia a prática de uso de contraceptivos, e um número grande de filhos era bem-vindo para a contribuição do trabalho nas lavouras. A maioria das famílias eram analfabetas e as relações sociais baseadas em laços de compadrio.
Especificamente sobre o município de Cunha, Willems (1947) também destaca a forte marca da organização patriarcal nas famílias, com peso na aprovação
3 Para uma análise sobre a condição das mulheres nas unidades familiares no Nordeste, ver, por exemplo, Heredia, Garcia e Garcia (1984). Para a região Sul do país pode ser consultada a pesquisa de Paulilo (1987).
dos pais para a realização de casamentos e na presença de valores religiosos e morais expressos, por exemplo, na questão da virgindade das mulheres. A educação era realizada junto às famílias, sem acesso ao ensino formal. No ambiente produtivo, as mulheres se dedicavam à criação de aves e suínos, e na confecção de farinha. Nas festas, havia separação entre os homens e as mulheres. Após vinte anos desse estudo, Shirley (1971) retoma as análises em Cunha e observa um aumento na escolaridade das mulheres, tanto nas áreas urbanas como rurais. O autor também destaca que a grande maioria dos casamentos ocorria de forma endógena, muitas vezes realizada entre parentes.
Esses marcadores de oposição que indicam uma submissão das mulheres em relação aos homens são quebrados por Fukui que realiza, na década de 1970, análises sobre a posição da mulher no mundo rural. Para ela (1976), existe uma relação de complementaridade entre os sexos que tem por foco a organização da vida familiar, mesmo que as iniciativas sejam forjadas em esferas diferentes. Contudo, isso não significa que as mulheres tenham posição de destaque, já que são relegados aos homens privilégios que os colocam em uma situação de preponderância. A posição da mulher no mundo rural seria dada por diferenças nos padrões de comportamento expressos moralmente e não da divisão de tarefas. A desvalorização das atividades femininas é, portanto, fruto das representações sociais que as embasam e a hierarquização é constituída ideologicamente. Nessa mesma linha de pensamento, Segalen (1980) analisa o universo rural francês para destacar a complementaridade, já que não há separação entre a vida doméstica e da produção, a residência e espaço de produção se confundem. Para ela, não é a força física que importa, mas a autoridade e responsabilidade.
A década de 1980 inaugura um novo ciclo de transformações nas áreas rurais do município, dada pela entrada de novos agentes oriundos das grandes cidades em busca de paisagens bucólicas, pelo desenvolvimento do turismo como atividade econômica e por novas formas de produzir. Essa nova realidade, que conforma dinâmicas contemporâneas, irá ensejar outros tipos de interações sociais, influenciando as práticas sociais.
NOVAS DINÂMICAS
Dados dos últimos Censos Demográficos (2010 e 2022) indicam que a população de Cunha vem se mantendo estável e atualmente é de 22.110 habitantes, sendo que quase a metade da população vive nas áreas rurais do município. A participação lindeira de Cunha nos ciclos de desenvolvimento influenciou a estrutura agrária, cujas propriedades rurais são de pequeno porte, conformando a presença marcante da agricultura familiar. Estudos indicam que a partir da década de 1980 pessoas oriundas de grandes cidades passam a
se instalar em municípios do interior no intuito de estabelecer moradia definitiva ou na utilização das chácaras para lazer aos finais de semana, essas pessoas adquirem propriedades que deixaram de ser utilizadas para a produção agrícola devido à crise nos preços ou pelas formas de transmissão do patrimônio (PIRES, 2007), o que influencia as formas de viver, as representações sociais e as relações de trabalho.
A valorização dos recursos naturais como paisagem, tanto no que se refere ao bem-estar como para a exploração turística, passa a representar um novo momento em que o turismo desponta como estratégia econômica. A representação que as pessoas não são de Cunha têm da natureza é de contemplação que agrega símbolos tidos como fundamentais da cultura rural, por exemplo, o fogão a lenha e a forma artesanal de produção. Já para os nativos, tais elementos são explorados na atividade turística. Essa percepção, constituída na alteridade, revela a influência tanto de gestores públicos quanto dos forasteiros4, mas também no reconhecimento de elementos de sua própria identidade que se traduzem nas tradições rurais típicas do tipo social caipira, como o jeito de ser e viver, seus valores e a fé religiosa. Assim, são aproveitadas na prática do turismo essas vantagens comparativas para um maior ganho econômico.
Uma segunda atividade desempenhada no município se refere à produção agroecológica que reflete tanto no aumento nos recursos financeiros dos produtores, como na valorização de determinadas habilidades e saberes, solapados pela prática da agricultura em larga escala, com centralidade na expansão da Revolução Verde. Para Sevilla Guzmán e Martinez-Alier (2006), a agroecologia alia a conservação ambiental e a preservação de identidades culturais de camponeses e indígenas.
A agroecologia em Cunha foi capitaneada por uma Organização Não Governamental (ONG) local e mais recentemente pelo governo do estado, via assistência técnica pública, influenciados, sobretudo, pela difusão da produção orgânica levadas a cabo pelo governo federal nos anos 2010, como a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). A gênese da alteração na forma de manejo no município difere, portanto, de outros locais em que a transição se deu via movimentos sociais e sindicatos rurais (CHARÃO-MARQUES et al., 2017).
Outro fator que impulsionou a alteração do manejo de tradicional para o agroecológico foi o diagnóstico de doenças causadas pelo uso intensivo de agrotóxicos por parte de alguns agricultores que trabalhavam em plantações de tomate. São vários os relatos dos moradores locais desses casos, o que estimulou o engajamento nos cursos de capacitação e a alteração na forma de produzir.
4 Categoria êmica utilizada pelos moradores locais para se referir às pessoas que não são do município.
Por fim, uma terceira atividade econômica desenvolvida em Cunha refere-se a uma prática quase secular e remonta aos anos 1940 (WILLEMS, 1947; SHIRLEY, 1971). Dados do IBGE demonstram que a produção de leite é estável no munícipio nas últimas décadas, denotando a importância e a permanência da atividade ao longo dos anos5. A produção é destinada para laticínios locais e da região. Recentemente está ocorrendo em algumas propriedades a tentativa de produção orgânica de leite, impulsionada pela mesma ONG local que atua na agroecologia. Tal mudança poderá acarretar maiores ganhos financeiros aos produtores. Contudo, os mercados abertos a esse tipo de consumo não estão na região, mas nos grandes centros urbanos. Assim, há pouca inovação na produção de leite no município ao longo das últimas décadas.
As dinâmicas surgidas a partir desses processos geram novas oportunidades para os moradores locais que são aproveitadas de forma distinta entre eles e, também, entre os homens e as mulheres.
CAMPOS DE POSSÍVEIS PARA AS MULHERES RURAIS
A análise sobre o surgimento de novas oportunidades para as mulheres nas dinâmicas rurais contemporâneas e o aproveitamento delas foi realizada por meio de entrevistas com as mulheres que se dedicam às três atividades econômicas principais que são desenvolvidas em Cunha, a saber: o turismo e o trabalho em propriedades alheias, a agroecologia e a pecuária leiteira. As entrevistas foram conduzidas de modo a obter informações sobre a trajetória de vida dessas mulheres, desde sua infância até o que pensam de possibilidades para o futuro.
Contribuir com as atividades domésticas a partir dos nove anos de idade era parte do cotidiano das mulheres. Em maioria, as meninas ajudavam suas mães na preparação dos alimentos, na limpeza da casa, no trato com porcos e galinhas, e nas tarefas atreladas à produção de leite. As lavouras com produção voltada à comercialização eram prioritariamente de responsabilidade dos homens e meninos. Esse modo de organização, herdado de gerações anteriores e retratado nos estudos dedicados ao rural, carregam marcações específicas de gênero e perpassam a vida das mulheres, reproduzidas na naturalização das posições sociais em que as mulheres desempenham as tarefas que são mais desvalorizadas socialmente.
Trabalhar com o turismo ou em propriedades alheias significa um deslocamento da centralidade das atividades da produção agropecuária para um outro tipo de trabalho, marcado pela expressão de elementos da vida contemporânea atrelados às novas ruralidades. Consequentemente, o desempenho dessas
5 Em 1970, o município produzia 14 mil litros de leite. Trinta anos depois o montante era de 15 mil litros.
atividades significa acesso a uma renda fixa mensalmente. Se, por um lado, os moradores que antes plantavam milho e feijão hoje vendem parte ou todo o seu patrimônio para os forasteiros, sob outra ótica é esse mesmo movimento que permite a geração de emprego e renda não agrícola. Essa nova atividade é considerada pelos moradores como uma alternativa viável para que as famílias permaneçam no bairro em que nasceram, o que é bastante valorizado por eles. Ao trabalhar como caseiros e jardineiros, há a garantia de um salário fixo.
Às mulheres são abertas oportunidades de trabalho mais esporádicas, como a realização de faxinas, acompanhamento e cuidados com idosos e outras atividades de tempo parcial que são, muitas vezes, exercidas nos mesmos locais em que seus maridos trabalham. Para essas mulheres, o cotidiano é dividido entre as tarefas realizadas no ambiente doméstico de suas casas, na horta que é utilizada para o consumo familiar e na confecção de artesanatos. Especificamente quanto ao turismo, as mulheres se dedicam ao trabalho nas pousadas e restaurantes. Contudo, tais funções também são esporádicas já que os estabelecimentos têm maior demanda aos finais de semana, momento de maior fluxo de turistas no município.
De um modo geral, as possibilidades abertas às mulheres no turismo e no trabalho desempenhado nas propriedades alheias se revelam como uma extensão ou ampliação das atividades que são realizadas no ambiente doméstico que são consideradas tipicamente femininas, voltadas à limpeza e ao cuidado (LUNARDI, 2012; NOGUEIRA, 2004). Porém, em relação ao que vivenciaram as gerações anteriores das mulheres que atuam nessas atividades – e mesmo o que elas relataram sobre suas memórias de infância –, há maior interação delas com outros agentes sociais. Elas consideram que tanto os forasteiros quanto os turistas promovem outras visões de mundo, proporcionando uma reflexão sobre suas próprias existências ao inseri-las num mundo social mais amplo que as subverte do isolamento social tão presente nas gerações anteriores, bastante restritas às relações familiares e de vizinhança.
As mulheres que desempenham atividades relacionadas à pecuária leiteira aprenderam desde a infância, com suas mães e avós, tanto o trato com as vacas como o valor que o leite, enquanto uma atividade linear que gera renda mensalmente, representa para toda a família. Para algumas das mulheres entrevistadas, o trabalho na pecuária representa a única forma que elas têm de obter alguma autonomia financeira. Por outro lado, essa atividade acaba por retê-las mais tempo em casa, já que o trabalho dedicado aos animais é cotidiano. Por esse motivo, há baixa interação social com outros agentes para além da família, incluindo parentesco e vizinhança. O resultado é um circuito de baixas interações econômicas e sociais, o que reflete uma continuidade nos padrões exercidos anteriormente, ou seja, há uma reprodução geracional nos modos de fazer e viver. Recentemente, um novo fato vem guiando as estratégias das famílias que atuam
na pecuária leiteira: trata-se da previdência social rural. Para ter direito ao benefício, as mulheres estão entregando o leite para os laticínios em seus próprios nomes de forma a garantir, futuramente, a aposentadoria.
A agroecologia é a atividade econômica em que mais houve abertura de novas possibilidades para as mulheres em Cunha. Ao desempenhá-la elas vivenciam um aumento em suas rendas, mas citaram como mais importante a valorização do trabalho que executam. As mulheres declararam que o contato direto com o consumidor, a possibilidade de precificar seus produtos sem a interferência de intermediários e o desenvolvimento do trabalho em suas próprias propriedades são motivo de orgulho e autonomia. Essa realidade diverge da memória que elas têm da infância, quando a produção era comercializada por atravessadores e, muitas vezes, o valor pago não cobria as despesas da casa e da produção. Essa valorização de um saber camponês (CHARÃO-MARQUES et al., 2017) ressignifica, de certo modo, a adjetivação de caipira que passa a ter uma conotação relacionada ao trabalho com a terra, de forma sustentável e com qualidade de vida quando comparado à vida nas grandes cidades.
Todas as famílias entrevistadas possuem um passado comum em relação às atividades produtivas desenvolvidas no município. Da mesma maneira como ocorreu com as mulheres que atuam no turismo e em propriedades alheias, antes de se inserirem na agroecologia elas se dedicavam ao trabalho doméstico e de cuidados, enquanto seus companheiros se dirigiam às grandes lavouras próprias ou como camaradas em outras propriedades. A partir do interesse na prática agroecológica, elas passaram a integrar os processos de produção, precificação e comercialização de uma diversidade maior de produtos, cuja prática foi impulsionada a partir da adesão das famílias ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com a produção estruturada, elas passaram a fazer parte, também, de espaços representativos como associações e na ONG local, além da participação em cursos e eventos fora do município – em alguns casos, até outros estados – proporcionados pela rede nacional de agroecologia.
Se, por um lado, as dinâmicas rurais contemporâneas são capazes de possibilitar novas oportunidades às mulheres, de outro, as possibilidades abertas não são aproveitadas de forma homogênea por elas. Há alguns fatores que são importantes e contribuem na definição dos papéis que serão desempenhados por homens e mulheres. O primeiro deles pode ser creditado ao número de irmãos e irmãs que as entrevistadas tiveram e a posição que elas ocupam na fratria. Um número maior de filhos exigia um tempo maior de cuidado por parte das mães e, consequentemente, maior ajuda das filhas nessas tarefas. Assim, a posição de nascimento das entrevistadas foi fundamental para definir seus papéis nas relações familiares. As mulheres que nasceram antes dos irmãos e que, portanto, eram as mais velhas acompanharam seus pais nos processos de comercialização fora do estabelecimento. Além disso, elas também ajudavam
seus pais na contratação de outros homens para trabalhar nas lavouras. Ao desenvolver tais tarefas, mais voltadas às posições de comando e decisão, as mulheres reforçaram determinadas habilidades que elas utilizam hoje como lideranças nos bairros em que vivem e trabalham.
A posse da terra e o tamanho da propriedade representam outra questão fundamental que influenciou a vida das mulheres entrevistadas e, portanto, o aproveitamento das oportunidades. A titularidade é histórica e culturalmente designada ao homem. É o pai de família que detém o poder de decisão sobre o que plantar e como dividir a terra entre os filhos. No passado, as mulheres não conseguiam uma porção de terra pela partilha familiar. Acreditava-se que elas poderiam ter sua propriedade por meio do casamento e, assim, eram os filhos homens que herdavam a propriedade. No caso das famílias em que não havia filhos, uma outra forma de transmissão de patrimônio foi encontrada em Cunha e é semelhante ao que Carneiro (1998) identificou durante a realização de sua pesquisa nas montanhas francesas, chamado de “casamento de genro”: quando a mulher herda a propriedade de seus pais ao se casar. Nesses casos, elas apresentaram maior poder de decisão sobre o que fazer na terra.
De maneira geral, pode-se afirmar que as dinâmicas rurais contemporâneas conduzem a uma maior interação das mulheres em relação ao que elas – e suas mães – vivenciaram em suas infâncias. Essas interações permitem que elas tenham acesso a outras visões de mundo. O acesso a uma renda própria advinda de seu próprio trabalho lhes dá condições para obter bens materiais para elas e suas famílias, mas também ocorre aumento da autoestima e da visibilidade enquanto trabalhadoras. O exercício de uma atividade própria, mesmo aquelas que são reconhecidas como extensão das atividades doméstica e de cuidado, pode conduzir a um reequilíbrio das relações de poder diminuindo as assimetrias, mesmo que temporariamente expressas, sobretudo, no compartilhamento de atividades domésticas e de cuidado dos filhos com seus companheiros, e na ocupação de atividades que requerem tomada de decisão. Nessas novas tramas, as habilidades e capacidades das mulheres vão sendo reveladas, ampliando o que o economista indiano Amartya Sen (2003) denominou de “functionings”, suas conquistas e seus desejos, ampliando o horizonte de possibilidades dessas mulheres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar as trajetórias de vida das mulheres no município de Cunha que se dedicam a diferentes atividades produtivas, foi possível compreender de que maneira os padrões comportamentais foram reproduzidos no ambiente familiar e fora dele. Elas indicaram, portanto, como se deram a formação de suas representações, cujas identidades são fortemente marcadas pelas definições de
101 gênero, indicando pouca margem para inovações que permitissem a elas experimentarem uma outra posição social diferente da que foi vivenciada nas gerações anteriores em que os espaços decisórios e de maior poder eram, majoritariamente, ocupados por homens. Dessa forma, os padrões e a distribuição de poder nas relações de gênero permaneciam com pouca margem de mudança em direção a um maior equilíbrio.
A dinâmica do lugar determinou não só a composição agrária do munícipio, mas também a maneira como os indivíduos conformam suas representações e identidades, influenciando na determinação de comportamentos que vão se alterando à medida que novas relações de interdependência vão se concretizando e pelas novas formas de concepção do mundo rural. Os elementos que faziam parte do cotidiano no passado passam a ser ressignificados e explorados como um trunfo para o turismo e nas formas de manejo da produção.
As dinâmicas rurais contemporâneas permitem que novas possibilidades se abram, pois são proporcionadas oportunidades inexistentes até então. Tais oportunidades são expressas materialmente no exercício de uma atividade que lhes garante um recurso próprio, mas também subjetivamente diante das novas interações realizadas que ampliam as visões de mundo das famílias, em geral, e das mulheres, particularmente. Contudo, o aproveitamento das oportunidades surgidas nessas novas dinâmicas não ocorre de forma homogênea.
A pesquisa demonstrou que o aproveitamento das oportunidades surgidas depende de alguns fatores importantes e representa a possibilidade de mobilizar determinadas habilidades adquiridas ao longo da vida das mulheres. A posição que elas ocupam na fratria e o papel desempenhado junto aos seus pais na produção, o número de filhos que tiveram – que influencia o tempo dedicado às tarefas domésticas e de cuidado – e a possibilidade de ter a propriedade da terra são elementos importantes para que elas consigam se dedicar às novas oportunidades que surgem nas dinâmicas rurais contemporâneas. Dessa forma, o aproveitamento das oportunidades não se coloca a partir do desejo individual das mulheres, mas na possibilidade em mobilizar suas capacidades que estão vinculadas às interdependências que foram constituídas em suas vivências. O conceito de configuração social foi, portanto, útil para desvelar que a posição social das mulheres está vinculada ao contexto em que elas estão inseridas. Por meio da análise da trajetória de vida delas, foi possível compreender as relações que elas estabeleceram ao longo de suas vivências e a forma como tais relações contribuíram para o desenvolvimento de determinadas habilidades que lhes foram úteis para o aproveitamento das oportunidades abertas nas novas dinâmicas rurais. A análise dessa teia de relações permitiu, ainda, vislumbrar as relações de poder estabelecidas e a margem de autonomia que as mulheres tiveram, bem como eventuais alterações comportamentais em relação ao passado que poderão ensejar um maior equilíbrio de poder nas relações de gênero.
O arcabouço conceitual e metodológico exposto anteriormente pode contribuir em outras análises, como, por exemplo, nas políticas públicas, visando uma incidência mais objetiva de modo a acelerar a condição das mulheres rumo a uma maior equidade de gênero, como preconiza o quinto ODS. As realidades sociais em que as políticas públicas operam são marcadas por representações de gênero e a forma como elas são desenvolvidas junto aos beneficiários podem vir a reproduzir tais representações, diminuindo as chances de reais transformações sociais.
REFERÊNCIAS
ANTONIO FILHO, Fadel David. Os “caminhos” dos tropeiros e o Vale Histórico da Serra da Bocaina (SP): um espaço geográfico “deprimido”. Revista Geográfica de América Central, Número Especial EGAL Costa Rica II Semestre, 2012, p. 1-20.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A partilha da vida. São Paulo: Geic: Cabral, 1995.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Afeto da terra: Imaginarias sensibilidades e motivações de relacionamento com a natureza e entre meio ambiente agricultores e criadores do bairro dos pretos. Campinas: São Paulo, Ed. Unicamp 1999.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os caipiras de São Paulo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.
CANDIDO, Antonio. Os parceiros do rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação do meio de vida. 8ª edição, São Paulo: Duas cidades; Ed. 34, 2001.
CARNEIRO, Maria José. Camponeses, agricultores e pluriatividade. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1998.
CHARÃO-MARQUES, Flávia; SCHMITT, Claudia Job; OLIVEIRA, Daniela. Agências e associações nas redes de agroecologia: práticas e dinâmicas de interação na Serra Gaúcha e na Zona da Mata Mineira. Século XXI, Revista de Ciências Sociais, vol. 7, n. 1, p. 15-42, jan./jun. 2017.
ELIAS, Norbert. Changing balance of power between the sexes in the history of civilization. Lettura del Mulino, Bologna – 14 Settembre, 1985.
ELIAS, Norbert. A Sociedade de Corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
ELIAS, Norbert. Escritos e Ensaios; 1: Estado, processo, opinião pública. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980.
ELIAS, Norbert. Os Alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
FAVARETO, Ariane. Dinâmicas rurais contemporâneas e configurações sociais de gênero. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade, Rio de Janeiro, 2019.
FUKUI, Lia Garcia. Sertão e Bairro Rural. Parentesco e família entre sitiantes tradicionais. São Paulo: Ática, 1979.
FUKUI, Lia. “Alternativas” aos papéis femininos entre sitiantes tradicionais no Brasil: implementações para uma política familial e social. Cadernos CERU, n. 9, 1976.
HEREDIA, Beatriz, GARCIA, Marie France e GARCIA Jr, Afrânio. O lugar na mulher em unidades domésticas camponesas. In: AGUIAR, Neuma (coord.). Mulheres na força de trabalho na América Latina. Petrópolis: Vozes, 1984.
LUNARDI, Raquel. Mudanças nas relações de trabalho e gênero no turismo rural. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural, Porto Alegre, 2012.
NOGUEIRA, Verena Sevá. A Venda Nova dos Imigrantes: relações de gênero e práticas sociais do agroturismo. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 2004.
PAULILO, Maria Ignez. O peso do trabalho leve. Ciência Hoje, v. 5, n. 28, jan.-fev. de 1987.
PIRES, André. Ruralidades em transformação: agricultores, caseiros e moradores de condomínio. São Paulo: Annablume, 2007.
SEGALEN, Martine. Mari et femme dans la Société paysanne. Paris: Flamarion, 1980.
SEN, Amartya. Development as Capability Expansion. In: FUKUDA-PARR, S. et al. Readings in Human Development. New Delhi and New York: Oxford University Press; 2003.
SEVILLA GUZMÁN, Eduard; MARTINEZ-ALIER, Joan. New rural social movements and agroecology. In: CLOKE, P. et al. (org.). Handbook of Rural Studies. London: Sage publications Ltd., 2006.
SHIRLEY, Robert W. O fim de uma tradição: cultura e desenvolvimento no município de Cunha. Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia: Editora Perspectiva, 1977.
STRATHERN, M. O gênero da Dádiva: problemas com as mulheres e problemas com a sociedade na Melanésia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006.
WILLEMS, Emilio. Cunha: tradição e transição em uma cultura rural no Brasil. São Paulo: Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo, 1947.
WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. In: VELHO, Otavio G. (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
WOORTMANN, Ellen F. Da complementariedade à dependência: espaço, tempo e gênero em comunidades pesqueiras do Nordeste. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 18, 1992, p. 41-61.
caPítulo 6
agroecologia e conStrução
coletiva do conheciMento: diálogoS entre SabereS acadêMicoS,
PráticaS e MetodologiaS ParticiPativaS
Sarah Luiza de Souza Moreira
Layssa Maia
INTRODUÇÃO
O presente artigo se propõe a trazer reflexões em torno do papel dos saberes “locais”, “tradicionais”, “tácitos” ou “vernaculares” na construção do conhecimento agroecológico, na medida em que este contribui para proporcionar um diálogo entre o saber científico e outros saberes no processo de construção de conhecimentos. Esse trabalho foi guiado, então, pelas seguintes indagações: Como as práticas da agroecologia podem contribuir para a valorização dos diferentes saberes e a geração de autonomia para os diferentes grupos sociais, especialmente os menos favorecidos? Que instrumentos e metodologias podem ser utilizados para dar visibilidade à potência dos conhecimentos tradicionais, em integração com o científico, para o bem-viver do mundo?
A partir desses questionamentos, levantamos outras questões orientadoras a serem refletidas com maior profundidade ao longo do desenvolvimento do artigo, com o objetivo de guiar nosso olhar para os diferentes sujeitos envolvidos nessa trama e seus processos e locais de produção de conhecimento: como se constrói a agroecologia na prática? Há diferenças entre as noções de saber e conhecimento? Como a perspectiva agroecológica contribui para a valorização dos diferentes saberes e suas conexões? Quais são os sujeitos considerados legítimos na construção do conhecimento? Por quê? Qual é o lugar do poder na construção do conhecimento? Como se dá, na prática, essa “construção coletiva de conhecimento”? Há espaços que são considerados mais propícios a esse desenvolvimento?
Para encontrar as pistas de respostas para essas questões, escolhemos como percurso iniciar pela leitura de diferentes autores/as sobre a construção
do conhecimento científico, a relação ciência e senso comum e o diálogo entre a ciência e outros tipos de conhecimento. Em um segundo momento, apresentamos novas perspectivas de construção e valorização de diferentes saberes, que buscam enxergar para além da legitimidade do saber acadêmico, olhando com mais atenção para a agroecologia como uma perspectiva epistemológica e política que se propõe a reconhecer e valorizar práticas e saberes historicamente invisibilizados, assim como aproximar e possibilitar o diálogo entre diferentes processos de construção do conhecimento.
Por fim, o aprendizado permitido pelo estudo e análise do funcionamento desses processos em experiências concretas também foi um propósito que esse ensaio pretendeu alcançar. Assim, apresentamos uma breve descrição da construção e implementação das Cadernetas Agroecológicas e da Avaliação
Econômica-Ecológica dos Agroecossistemas – Lume, buscando perceber como se deu, em cada uma dessas metodologias, a concepção e execução de seus instrumentos: a partir de que sujeitos, com base em quais conhecimentos e de que forma contribuem para a autonomia de tais sujeitos em suas práticas produtivas, sociais, políticas, ou seja, em suas vidas. Nossa perspectiva era conseguir visualizar os limites e as potencialidades que essas experiências encontraram ao enfrentar esse desafio de formular uma alternativa prática ao processo de produção de conhecimento de forma participativa.
ENTENDENDO OS DEBATES EPISTEMOLÓGICOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E SENSO COMUM
O debate acerca das conexões entre ciência e sociedade perpassa a obra de diversos/as autores/as de maneiras distintas ao longo da história. Entretanto, sabe-se que há uma construção da ideia de ciência, daquilo que é científico, como uma estrutura bastante rígida, pouco transparente e de compreensão inalcançável de suas especificidades e ferramentas. A contribuição de autores clássicos como Gastón Bachelard (1996)1 e Thomas Kuhn (1998) nos ajudam a refletir sobre o processo de construção do conhecimento científico.
Para Bachelard (1996), no processo de produção de conhecimento, a questão da abstração era central. Ele tinha um entendimento de que a ciência deveria trabalhar com uma linguagem que rompesse com o senso comum, avançando para um nível de abstração que fosse capaz de organizar o pensamento. A defesa da ruptura com o senso comum como um dos elementos
1 Vale explicar que optamos por, ao longo do trabalho, incluir nas citações os primeiros nomes das/os autores/as para, mesmo com algumas limitações, explicitar quem são autoras mulheres e quem são autores homens. Como ressalta a epistemologia feminista, é importante visibilizar as contribuições das mulheres na construção da ciência.
centrais da produção do conhecimento é característica tanto da obra de Bachelard quanto de Pierre Bourdieu, e segue reforçando a lógica da hierarquia dos atos epistemológicos definidos “pelo fato de que a fronteira entre os saberes comuns e a ciência é, em sociologia, mais imprecisa do que em outros campos, impõe-se, com uma urgência particular, a necessidade da ruptura epistemológica” (BOURDIEU, et al., 2004, p. 87).
Para Thomas Kuhn (1998), o foco de observação do processo de desenvolvimento da ciência deve estar na comunidade científica e naquilo que fornece legitimidade ao que está instituído como paradigma. Apesar de questionar se faz sentido uma ciência autônoma da sociedade, Kuhn não está preocupado em pensar os enlaces dessa comunidade com a sociedade e com outras instituições, mas sim com o funcionamento interno da comunidade da ciência, já promovendo um sentido de distanciamento, de constituição de dois mundos distintos.
Sheila Jasanoff (2004), em uma contribuição mais recente, realiza uma discussão sobre o conceito de coprodução (que será debatido em maior profundidade posteriormente) quando ela afirma que, em sua abordagem interacional (em oposição à constitutiva), o centro de análise é a epistemologia, ou seja, “o modo como sabemos sobre algo”, e estabelece uma linha de maior equilíbrio entre esses dois âmbitos:
nos exercícios de criação de mundo, nem a ciência nem a sociedade começam com uma lousa limpa, sempre operam no contexto de uma ordem existente, na qual as pessoas já sabem em termos pragmáticos o que interessa como natureza ou ciência e como sociedade ou cultura. No entanto, conflitos de fronteiras sobre onde esses domínios começam e terminam continuamente exigem resolução (JASANOFF, 2004, p. 19, tradução livre).
Para Víctor Toledo e Narciso Barrera-Bassols (2009), há, a partir da década de 80, uma tentativa de retorno às “outras ecologias”, estimulada, principalmente, pela percepção de falência dos sistemas produtivos modernos no uso dos recursos naturais, que tem gerado crises ambientais cada vez mais complexas. Os autores indicam que é a partir desse período que começam a surgir projetos de resgate de saberes próprios das sociedades consideradas tradicionais com atenção ao manejo dos recursos com uma reorientação da comunidade científica para tais conhecimentos, por meio da criação de núcleos de pesquisadores/as e a realização de congressos para discussão desses temas. No entanto, na esteira de construção desse relacionamento, apesar dos esforços por tentar garantir uma participação mais ampliada dos grupos historicamente excluídos e da busca pela incorporação de outras (cosmo)visões e suas contribuições, Sheila Jasanoff (2019) nos apresenta um contraponto ao apontar o quanto ainda se mantém uma série de pressupostos que perpetuam o histórico distanciamento do mundo da ciência.
Já é amplamente reconhecido que uma construção de conhecimento mais interativa e participativa pode aumentar a accountability e levar a avaliações de maior credibilidade sobre ciência e tecnologia. Essas abordagens serão também consistentes com as mudanças nos modos de produção do conhecimento, que fizeram com que a ciência se tornasse socialmente mais enraizada e mais atrelada aos contextos de sua aplicação. Ainda assim, as instituições modernas ainda operam utilizando modelos conceituais que procuram separar a ciência dos valores e enfatizam a previsão e o controle em detrimento da reflexão e do aprendizado social. Não é surpreendente que o mundo real continuamente produza lembretes sobre a incompletude de nossas capacidades preditivas através de trágicos choques como os “acidentes normais” de Perrow (JASANOFF, 2019, p. 586).
Essas reflexões iniciais tiveram o propósito de abrir caminhos para apresentação de mais três temas de discussão, que se desdobram desse debate: a constituição e reconhecimento daquilo que é considerado saber tradicional; a apresentação de metodologias e perspectivas teóricas formuladas no sentido de questionar os processos de produção de conhecimento, identificando de forma mais minuciosa seus espaços, atores e atrizes, e, por fim, um debate sobre a contribuição diferenciada da agroecologia enquanto uma proposta de valorização da diversidade e do diálogo de saberes para a reorientação do processo de produção de conhecimento científico como conhecemos até o momento.
A DISTINÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O(S) OUTRO(S) CONHECIMENTO(S)
Na compreensão de Víctor Toledo e Narciso Barrera-Bassols (2009), podemos identificar duas origens principais para as formas distintas de conhecimento na articulação com a natureza: aquela gestada pelo Ocidente, que tem sua origem a partir da Revolução Industrial, e aquela formulada por uma multiplicidade de culturas não ocidentais que, “por resistência ou por marginalidade, conseguiram resistir ou evitar a expansão cultural e tecnológica do mundo industrial” (p. 33). Ainda segundo os autores, essa distinção foi debatida e identificada de várias maneiras ao longo do tempo, denominadas como “ciência neolítica” e “ciência moderna” (LÉVI-STRAUSS, 1964), “conhecimento abstrato” e “conhecimento histórico” (FEYERABEND, 1982), “o conhecer” e “o saber” (VILLORO, 1982).
Considerando que a construção de uma ampla variedade de conhecimentos, que tem sido resultado de uma sequência de descobertas, inventos e criações ao longo da história da Humanidade, tem se dado desde muito antes da data de estabelecimento do conhecimento científico, Lévi-Strauss chamou atenção para o que definiu como “paradoxo neolítico”:
O paradoxo não admite mais do que uma solução: a de que existem duas maneiras diferentes de pensamento científico, que tanto um como outro são função, não de etapas desiguais do desenvolvimento do espírito humano, mas dos dois níveis estratégicos em que a natureza se deixa atacar pelo conhecimento científico: um deles quase ajustado ao da percepção e o da imaginação e o outro deslocado; como se as relações necessárias, que constituem o objeto de toda a ciência, seja neolítica ou moderna, pudessem ser alcançadas por duas vias diferentes: uma delas muito próxima à intuição sensível e a outra mais afastada. [...] Essa ciência do concreto tinha que estar, por essência, limitada a outros resultados além dos prometidos às ciências exatas naturais, mas não foi menos científica, e seus resultados não foram menos reais. Obtidos dez mil anos antes que os outros seguem sendo o substrato de nossa civilização (1964, p. 33-35 apud TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 33).
Embora pareça haver nessa perspectiva dos autores a presença de uma maior profundidade da capacidade reflexiva e analítica na ciência moderna, sendo, portanto, menos comprometida com o aspecto ideológico, em contraposição a uma perspectiva mais ligada à experiência/observação/sensibilidade do que chamou de “ciência neolítica”, há, também, um profundo reconhecimento da importância e da forma de funcionamento desta ao longo da história.
Para Víctor Toledo e Narciso Barrera-Bassols (2009), o conhecimento tradicional se constitui a partir da oralidade, no sentido de que raramente é sistematizado e registrado de forma escrita, e da ancestralidade, dada a sua transmissão entre mães, pais e avós para as novas gerações. Para eles, esse conhecimento resulta de três elementos principais (k-c-p). O primeiro deles é o kosmos, que seriam as crenças, as definições últimas das relações do mundo com Deus, com o ser humano. O segundo seria seu corpus, ou seja, seu repertório de signos, símbolos, conceitos e percepções que se articulam ao sistema cognitivo “tradicional” (reconhecimento de plantas medicinais, forma de entendimento das estações do ano). Ainda assim, por último, a práxis, as práticas, que projetam esse conhecimento a partir da oralidade, da repetição, do fazer diário que o reedita e aprimora continuamente. Por essa característica particular da práxis, os autores, inclusive, questionam o uso do termo “tradicional” para identificar esse conhecimento, uma vez que
cada produtor e/ou coletividade está lançando mão de um conjunto de experiências que são tão antigas como presentes (existiram e existem), da mesma maneira que são tanto coletivas quanto pessoais. Trata-se mais de uma tradição moderna, ou melhor, de uma síntese entre tradição e modernidade, uma perspectiva que, ao ser olhada de soslaio pelos investigadores, serviu para manter a falsa ideia da inoperância e inviabilidade contemporânea dessas “tradições” e, claro, para a justificação automática de tudo o que se considera como “moderno” (TOLEDO, Victor E BARRERA-BASSOLS, Narciso, 2009, p. 36).
A potência, a capacidade de resistência, a inventividade e a permanência desses saberes no decorrer do tempo não têm encontrado eco e legitimidade nos processos de produção daquilo que é considerado científico. Ao contrário, foram estigmatizados como arcaicos, atrasados e inferiorizados diante do que se convencionou chamar “ciência nas lógicas dominantes” (LOPES, et al., 2021).
É importante reforçar, contudo, que não é intenção deste trabalho reificar o saber “tradicional”, ignorando seus limites práticos e suas características, muitas vezes particulares e restritas a determinadas culturas e localidades. Por outro lado, pretendemos questionar o que fez com que tais saberes fossem apartados tão drasticamente da produção da ciência, se já vêm mostrando ao longo dos tempos sua capacidade de contribuição. O que seria possível produzir se uníssemos, pelo menos, esses dois sistemas de produção de conhecimento? Quais relações de poder precisariam ser destituídas para que essa construção conjunta fosse possível?
NOVOS OLHARES E PERSPECTIVAS PARA OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
As discussões apresentadas até aqui nos permitem perceber que o processo de construção da ciência em muitos momentos, dada a seletividade e pouca amplitude de seus locais, atores e atrizes, produziu (e segue produzindo) um lugar de superioridade daquilo que é compreendido como científico. Essa hierarquização abriu um fosso entre sociedade e ciência, estabelecendo distinções profundas com outras formas de conhecimento quando do seu reconhecimento, embora estes já tenham se mostrado relevantes ao longo da História.
Nos últimos anos, têm surgido metodologias e novas formas de análise sobre os processos de produção de conhecimento que têm como objetivos: visibilizar os atores e atrizes, espaços e procedimentos envolvidos; questionar as relações de poder e interesses intrínsecos, tanto do lado da ciência quanto da sociedade; e reivindicar a participação de maior protagonismo de um número mais amplo de pessoas e grupos sociais. Essas perspectivas carregam consigo uma ideia de criação de alternativas ao processo hegemônico/convencional –excludente e pouco transparente –, abrindo espaço para novas vozes.
Neste trabalho, apresentamos brevemente três dessas perspectivas, que têm sido debatidas nas últimas duas décadas: a cosmopolítica (BLASER, 2016); a etnoecologia (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009); e a coprodução (JASANOFF, 2004). É importante reforçar, contudo, que os exemplos descritos não esgotam todas as alternativas que estão sendo construídas nesse sentido, principalmente considerando que várias delas estão sendo forjadas continuamente no cotidiano dos grupos, comunidades e nos núcleos de pesquisa, e talvez ainda nem tenhamos tido acesso e possibilidade de conhecê-las. Esse registro tem o
saBeres, sujeitos e PoLíticas 111 propósito apenas de indicar que esses debates estão acontecendo, a partir dos mais variados âmbitos, e produzindo novos desafios, reflexões e práticas.
COSMOPOLÍTICA
A ideia da cosmopolítica é trazida por Mario Blaser (2016), antropólogo argentino, que trabalha desde a perspectiva da ontologia política, ou seja, que valida qualquer forma de compreender o mundo baseada em suposições, explícitas ou implícitas, sobre as coisas que existem ou podem existir e, nesse sentido, a ciência para ele é apenas uma das ontologias políticas possíveis. Há subjacente uma provocação sobre as irredutibilidades de determinadas ontologias e um questionamento sobre como possibilitar o diálogo entre a ciência e outros saberes e cosmovisões.
O conceito de cosmopolítica trazido pelo autor é colocado em contraposição à ideia de cosmopolitanismo, constituído pela ideia da ciência como universal, como ponto de vista hierarquicamente superior, que permite fazer a síntese entre os diversos mundos. A cosmopolítica, por sua vez, nos termos de Isabel Stenger (2005), aponta a composição do mundo comum como altamente política, onde não é possível subestimar, portanto, as dimensões políticas e cósmicas da construção de mundos. A ideia da cosmopolítica não pressupõe também uma relação de adição do conhecimento convencional ao científico, tampouco de validação de conhecimentos tradicionais pela ciência. Nesse sentido, não reforça a ideia de ciência malvada de um lado e práticas puras de outro, mas defende a necessidade de encontro desses dois mundos para a construção de um mundo comum, a fim de construir contra-hegemonia, de fazer revoluções paradigmáticas (BLASER, 2016).
Vale destacar que o conceito de cosmopolítica passa não pela premissa de isolamento dos sujeitos e seus conhecimentos nos mundos locais, mas pela possibilidade de que os diferentes mundos possam identificar e debater as diversas relações políticas, de conhecimento e de identidade que estão presentes nesse processo. Daí, se apresenta também a noção de “ecologia das práticas”, tensionando esse propósito de reconstruir um outro mundo, o que nos faz refletir sobre como podemos pensar tais construções ontológicas nessa zona de interface, de troca, de composição de mundos possíveis (BLASER, 2016).
ETNOECOLOGIA
A etnoecologia se apresenta no contexto de uma ciência pós-normal, que é aquela que precisa conviver com as incertezas, dada a atual abrangência da aplicação e redução do tempo entre a produção e a aplicabilidade. Com esse grau de imprevisibilidade, os/as autores/as referências desse campo defendem
que não podemos ter uma comunidade científica restrita, sendo necessária uma “comunidade expandida de pares”, de modo a garantir perspectivas mais amplas e capazes de dar conta da diversidade de demandas e incertezas (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).
A proposta da etnoecologia pressupõe um enfoque multidisciplinar, orientado para o estudo das crenças, conhecimentos e práticas produtivas que constituem o saber tradicional, de modo a identificar como são aplicados nos mais variados contextos, ou seja, como se estabelecem as relações entre a interpretação dos problemas enfrentados com o conjunto de saberes que é acionado. Segundo Toledo e Barrera-Bassols (2009, p. 41),
os etnoecólogos precisam então interpretar os modelos do mundo natural que possuem os produtores, famílias e comunidades com culturas tradicionais, com o fim de compreender em toda sua complexidade as sabedorias locais.
Em paralelo, os etnoecólogos também geram um modelo científico “externo” sobre o mencionado contexto local. O enfoque etnoecológico busca, então, integrar, comparar e validar ambos os modelos para criar diretrizes que apontem a implementação de propostas de desenvolvimento local endógeno ou sustentável com a plena participação dos atores locais. Assim, seu enfoque busca encontrar possíveis sinergias entre ambas as maneiras de valorizar o mundo e o consequente aproveitamento dos recursos naturais.
Para eles, a etnoecologia seria um método com capacidade de dar centralidade para os conhecimentos tradicionalmente marginalizados (indígenas, quilombolas, de povos camponeses), por meio do diálogo de saberes e da participação desses/as atores e atrizes. A proposta é bastante interessante, mas fica a preocupação sobre a formação desse/a profissional que vai desenvolvê-la: seria apenas um/a cientista tradicional com tendência a observar de forma mais atenta e respeitosa essas práticas? Como se dá a construção desse modelo externo, do ponto de vista das relações de poder que podem se estabelecer nesses processos?
COPRODUÇÃO
O conceito de coprodução é discutido por Sheila Jasanoff (2004), autora que tem seu trabalho concentrado em quatro grandes eixos: ciência, tecnologia, cultura e poder (política). Ela faz uma série de reflexões sobre o campo de estudos da ciência e tecnologia, adotando, por um lado, uma perspectiva etnográfica e, por outro, um olhar atento para não se deixar capturar por contextos reduzidos ao nível micro. A autora investe bastante em estudos comparados, imergindo na questão das instituições, explorando imaginários sociotécnicos, afirmando que as relações que acontecem nesses
113 diferentes domínios são relações permeáveis e fluídas, e as fronteiras entre esses elementos são tênues (JASANOFF, 2004).
Nessa discussão, a ciência não é entendida como reveladora do que é verdade, nem como apenas um artefato decorrente dos interesses políticos. A ideia da coprodução, nesse sentido, pretende reforçar que o conhecimento está sempre imerso em relações de poder, mais ou menos estabilizadas, tem uma história e se organiza a partir de determinadas configurações. A autora sugere que a coprodução não é uma teoria desenvolvida que pretende prever e estabelecer leis, mas é um idioma, um modo de interpretar e compreender, por meio de uma perspectiva simétrica, as especificidades da ciência como prática no seu entrelaçamento com as dimensões da ordem do poder, evitando as supressões e omissões presentes na maioria das abordagens das Ciências Sociais. A coprodução propõe, portanto, um mergulho no contexto de produção do conhecimento para entender como emerge e de que maneira se estabiliza (JASANOFF, 2004).
Talvez o subproduto mais importante de toda essa investigação seja o reconhecimento de que a produção da ordem na natureza e na sociedade deve ser discutida em um idioma que não dê primazia a nenhum dos dois. O termo co-produção reflete esse desejo inconsciente de evitar o determinismo social e tecno científico nas narrativas de CTS do mundo (JASANOFF, Sheila, 2004, p. 20, tradução livre).2
Uma análise coproducionista se preocupa em observar quatro elementos principais: identidades (papel dos/as especialistas, a suposta diferenciação, como o conhecimento produz e/ou sustenta esses papéis sociais), instituições (geralmente entendidas como garantidoras da legitimidade, detentoras de conhecimento e poder), discursos (o uso e a necessidade de fabricação de novas linguagens a cada problema, busca pela conexão entre a prática e o conhecimento) e representações (estudo das influências históricas, políticas e culturais na ciência, formas de agência e adoção de representação de outros atores sociais) (JASANOFF, 2004).
Nesse sentido, a coprodução busca visibilizar esses variados elementos no processo de produção de conhecimento, para, com isso, permitir a crítica consciente de seu funcionamento, mas também que vislumbre formações mais amplas e caminhos de mudanças a partir da integração de olhares das mais diversas áreas que devem passar a se envolver nessa atividade.
A AGROECOLOGIA COMO UM DOS CAMINHOS POSSÍVEIS DE CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGO DE SABERES
Nessa caminhada de debates epistemológicos que questionam a ciência normal ou a lógica hegemônica que a considera como detentora da verdade,
2 CTS: ciência, tecnologia e sociedade.
que a apresenta como o único espaço legítimo de produção do conhecimento, sendo todos os outros espaços e sujeitos considerados como parte do senso comum, podemos pensar na agroecologia como mais um desses espaços de debate e questionamento. Olhando para o âmbito rural, da agricultura e da produção de alimentos, a agroecologia tem se apresentado como um dos conceitos e campos de reflexão que problematiza a lógica cientificista; questiona a predominância das técnicas; pauta a centralidade dos sujeitos com suas histórias e experiências nos contextos em que vivem e frente às diferentes opressões e exclusões que sofrem; e, por fim, coloca a importância de reconhecer diferentes sujeitos, espaços, lugares políticos como relevantes na construção coletiva de saberes, em um momento de diálogo e troca de conhecimentos para a produção de uma nova e mais sistêmica forma de ver e transformar o mundo.
Para compreender melhor a agroecologia e as mudanças pelas quais ela tem passado, fazemos um breve percurso pela história de sua construção conceitual nas últimas décadas. Em seguida, apresentamos o debate sobre o processo de construção de conhecimento agroecológico enquanto alternativa ao paradigma convencional, destacando os desafios que tem enfrentado, bem como seus limites e potencialidades.
A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE AGROECOLOGIA E SUA CONSTITUIÇÃO ENQUANTO CIÊNCIA, MOVIMENTO E PRÁTICA
O conceito de agroecologia foi usado pela primeira vez pelo russo Basil Bensin (1928; 1930) em seus estudos sobre métodos ecológicos em plantas de culturas comerciais. Sua concepção de agroecologia partia da perspectiva da aplicação da ecologia à agricultura (WEZEL, et al., 2009, p. 2). Na década de 1950, o zoólogo e ecologista alemão Wolfgang Tischler (1950; 1953) citou a agroecologia ao tratar da gestão de pragas do solo em áreas agrícolas. Ele é citado por muitos como referência por ter sido o primeiro a lançar um livro com “agroecologia” em seu título (TISCHLER, 1965). Para ele, falar em agroecologia significava trabalhar questões como a integração entre solo, clima, plantas e animais e o manejo agropecuário dentro de determinado agroecossistema, aproximando a ecologia da agronomia (WEZEL, et al., 2009, p. 2).
Entre os anos de 1960 e 1970, o conceito da agroecologia passou a ser utilizado de fato como uma aplicação da ecologia à agricultura especialmente frente aos impactos da Revolução Verde. Nesse contexto, o agroecossistema, conceito criado pelo ecologista Eugene Odum (1969), passa a ser central ao tratar dos espaços intermediários entre os ecossistemas naturais e os “domesticados” pelos seres humanos.
Já nos anos de 1980, a agroecologia passa a ser vista por uma perspectiva mais holística como uma forma de contribuir para a construção de agroecossistemas sustentáveis, com a conservação dos ditos recursos naturais. De acordo com a perspectiva de Stephen Gliessman (2000), a agroecologia era a aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis.
Nesse momento, a economia e a sociologia passam a dialogar com o conceito, especialmente no que se refere a uma forma própria de construção do conhecimento agroecológico, em que os conhecimentos tradicionais também passam a ser reconhecidos. Segundo Altieri (1989), a agroecologia é uma ciência emergente que estuda os agroecossistemas, integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e sociologia. No entanto, para Sevilla Guzmán (2002), a agroecologia não poderia ser considerada como uma ciência, visto que ela incorpora o conhecimento tradicional que, por definição, não é científico.
Ainda nesse contexto, outras pesquisas passam a ver a agroecologia como espaço de produção do conhecimento, passando a valorizar e reconhecê-la como prática de camponeses/as e indígenas, especialmente no enfrentamento ao pacote tecnológico da agricultura intensiva, imposta pelas corporações internacionais (ARRIGNON, 1987; GLIESSMAN, 2007). Nesse sentido, questões como o estudo sobre práticas tradicionais de manejo agrícola e de conservação da agrobiodiversidade vieram à tona. A ideia da transição agroecológica como um processo de mudança e adequação gradual das práticas agrícolas (COSTABEBER; MOYANO, 2000) é desenvolvida e questões como a sustentabilidade e equidade (WEZEL, et al., 2009, p. 3) passam a ser consideradas. Já nos anos 2000, uma visão mais sociológica da agroecologia é apresentada por Glória Isabel Guzmán Casado, Manuel González de Molina e Eduardo Sevilla Guzmán (2001) ao destacar a importância da interação das dimensões ecológica e técnico-agronômica, da socioeconômica e cultural e da sociopolítica. Atualmente, vários/as estudiosos/as afirmam que a agroecologia precisa ser conceituada como ciência, prática e movimento, conforme artigo publicado por Alexander Wezel et al. (2009). Andrea Alice Faria (2017) contraria essa perspectiva por afirmar, como comenta Sarah Moreira (2019) que
agroecologia é ciência, não apenas por produzir conhecimento científico (reconhecido no âmbito acadêmico), mas por se colocar como um novo paradigma; como prática, por levar em consideração os conhecimentos tradicionais e das/os agricultoras/es familiares nas inovações tecnológicas; e como movimento social por reunir diferentes sujeitos sociais em torno de pautas comuns e promovê-la para toda a sociedade e incluí-la nas políticas públicas (MOREIRA, 2019).
É também nesse contexto, como um forte contraponto às perspectivas anteriores que consideravam que não havia processo técnico, reflexivo e de experimentação e confirmação na atuação dos/as agricultores/as, que a compreensão da agroecologia enquanto ciência começa a se sedimentar, dada a
constatação da existência de sofisticadas racionalidades ecológicas em agriculturas camponesas. Assim como nos sistemas agrícolas tradicionais, a Agroecologia aproveita os recursos da natureza localmente disponíveis para desenvolver agriculturas que assegurem produções estáveis e satisfatórias para atender às necessidades econômicas das famílias agricultoras e que ao mesmo tempo possuam elevada capacidade de se auto-reproduzir técnica, cultural e ecologicamente. No enfoque agroecológico, essas agriculturas são apreendidas como a expressão de estratégias coletivas de produção econômica e de reprodução sociocultural. São, portanto, o produto do exercício da inteligência criativa de populações rurais na construção de melhores ajustes entre seus meios de vida e os ecossistemas e não uma manifestação de um atraso cultural a ser superado (PETERSEN, 2007, p. 8).
Por fim, é interessante perceber como os movimentos sociais passam a tratar a agroecologia como um modo de produzir, relacionar-se com o trabalho da agricultura, a vida e as pessoas no campo, ou seja, como um modo de vida. Nessa construção, tornam-se elementos fundamentais o respeito à diversidade de tradições, culturas e saberes, assim como a proteção à sociobiodiversidade, ao patrimônio genético e aos bens comuns (MOREIRA, 2019).
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO
COMO CONSTRUÇÃO COLETIVA E DIÁLOGO DE SABERES
A expropriação dos saberes tradicionais dos/as agricultores/as e a inserção de um modelo de difusão de técnicas e conhecimentos oriundos de formações acadêmicas muitas vezes descontextualizadas das realidades locais onde eram implementadas foram elementos fundamentais do processo de desenvolvimento da Revolução Verde e do que se convencionou chamar de “modernização conservadora” (MOORE JR., 1975). Os serviços de extensão rural, muito criticados por Paulo Freire (1979) nesse contexto, compostos por seus/suas profissionais técnicos/as em agronomia ou áreas correlatas, foram os principais responsáveis pela construção desse modelo de “mão única”, em que se decidiu ignorar os acúmulos desenvolvidos em anos de trabalho produtivo das/os agricultoras/es e transferir para eles/as um conjunto de regras e ações preestabelecidas, dos quais não conheciam a origem, a funcionalidade e tampouco sua eficácia.
Essa nova forma de funcionamento das atividades que foi imposta às/ aos agricultoras/es no campo não se restringia apenas a alterações nas técnicas
saBeres, sujeitos e PoLíticas 117 de cultivo e manejo de suas produções, mas buscava influenciar as práticas de vida nesses espaços. As transformações nos processos culturais, econômicos e sociais historicamente construídos tinham o objetivo de consolidar uma padronização e homogeneização dos modos de vida e produção no campo, sob a justificativa de reversão do atraso que representavam e de abertura de caminhos para o que se considerava progresso.
Nesse sentido, os debates em torno do conceito de agroecologia foram acompanhados de processos profundos de luta pelo reconhecimento de práticas ancestralmente desenvolvidas no campo enquanto forma de subversão das/os agricultoras/es às dinâmicas que lhes foram impostas e de busca coletiva pela estruturação de novas metodologias que fossem capazes de resgatar os saberes tradicionais, integrando-os, de maneira participativa, aos saberes técnico-acadêmicos, dialogando com as perspectivas do coprodução, da etnoecologia e da cosmopolítica.
Portador de conceitos que permitem uma melhor compreensão da realidade em que vive e trabalha a agricultura familiar, o enfoque agroecológico abriu novos horizontes para o desenvolvimento de abordagens metodológicas mais consistentes com o objetivo de promover uma agricultura alternativa à Revolução Verde. (...) A Agroecologia se desenvolveu rompendo com o positivismo lógico que desconhece a validade de conhecimentos que não sejam produzidos pelo método científico. Com efeito, a construção do conhecimento agroecológico se faz mediante a revalorização das sabedorias locais sobre uso e manejo dos recursos naturais e a sua integração com os saberes de origem acadêmica (PETERSEN, 2007, p. 14).
A retomada da valorização dos conhecimentos tradicionais e o desafio central de estabelecer novas relações entre esses conhecimentos e os técnico-acadêmicos marcam os processos de construção do que tem se definido como conhecimento agroecológico. Para Ailton Santos (2007, p. 22), essa abordagem deve ser resultado de três elementos principais: da atuação de uma multiplicidade de atores/atrizes em contextos diversos; da consciência de que não é um conhecimento acabado, pronto para ser re(a)plicado, mas que é preciso estar em permanente formulação; da opção por “métodos, procedimentos e práticas pedagógicas que facilitem a emergência de novos saberes”.
Ailton Santos (2007) e Paulo Petersen (2007) afirmam que o conceito de conhecimento agroecológico carrega consigo também uma proposta de diferenciação dos modelos convencionais de pesquisa agrícola e assistência técnica e extensão rural, considerando as dificuldades enfrentadas por essas organizações de partir de formações técnicas que não ofereciam base teórico-metodológica para formular ferramentas que fossem capazes de estimular a participação e partir do ponto de vista e da percepção dos/as agricultores/as e não dos/as técnicos/as.
O encontro das assessorias com as organizações de base se fez mediante um verdadeiro choque epistemológico. Por mais comprometidas politicamente com a causa do campesinato e por maior sensibilidade que tivessem com relação à importância da sabedoria popular para o desenvolvimento local, as assessorias técnicas eram então compostas majoritariamente por profissionais formados academicamente com base nos princípios técnicos e metodológicos dos cursos superiores e médios de ciências agrárias, desenvolvidos para viabilizar a expansão das formas capitalistas de produção no campo. Portanto, embora criticassem o modelo técnico convencional, no primeiro momento as assessorias encontraram dificuldades de se desvincular do viés produtivista e da perspectiva difusionista de atuação (PETERSEN, 2007, p. 12).
Na busca por desenvolver alternativas capazes de produzir processos orientados pela participação e por uma relação de maior dialogicidade com os/as agricultores/as nas experiências, muitos desafios se impuseram. Após esse primeiro momento mencionado, o papel das assessorias estava muito mais ligado à crítica à natureza das tecnologias do que aos métodos difusionistas. O foco era, então, a realização de processos de mapeamento, sistematização e difusão das tecnologias criadas pelas comunidades locais, com o propósito de difundi-las, por compreender que o problema seria uma baixa capacidade de divulgação e reaplicação dessas técnicas para outros espaços, em virtude da baixa mobilidade social dos/as agricultores/as familiares (PETERSEN, 2007).
Em um terceiro momento, as experimentações apontaram para a necessidade de mudança desse método, principalmente em relação a essa centralidade dada às tecnologias, passando a compreender que mais importante do que o registro do produto final acabado (artefato) é acompanhar os desafios e potencialidades do processo de construção daquela inovação e/ou daquele conhecimento produzido. Assim, inaugura-se uma perspectiva sistêmica da análise das tecnologias, que pressupõe observar “suas funções como mediadoras de relações ecológicas e socioeconômicas nos agroecossistemas” (PETERSEN, 2007, p. 14), e instaura-se o método de atuação temática, a partir dos problemas cotidianos encontrados nas realidades dos grupos envolvidos.
Esse processo de construção, reconstrução, invenção e reinvenção dos métodos e alternativas foram marcados por experimentações, erros, acertos, riscos e desafios assumidos. Parte deles foram sistematizados por Ailton Santos (2007), em um estudo de 10 experiências desenvolvidas por organizações da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) no sentido de construção desse conhecimento agroecológico. Organizamos um compilado desses elementos, a partir da leitura do autor, reunindo-os em três eixos principais, conforme a tabela abaixo: embate com o modelo difusionista; transição do método de intervenção; e papel das/os agricultoras/es.
Quadro 1
Síntese dos elementos analíticos sobre as experiências de construção de conhecimento agroecológico

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de SANTOS, 2007.
Como é possível observar, a síntese apresenta, majoritariamente, riscos assumidos e/ou erros cometidos por essas experimentações nesses três âmbitos. É preciso reforçar, contudo, que isso não significa dizer que todas as iniciativas enfrentaram essas questões e tampouco que nenhuma delas conseguiu implementar as metodologias sem cair nessas armadilhas. Como afirmou Paulo Petersen (2007, p. 16),
as evoluções das abordagens metodológicas vêm se processando de forma desigual entre as organizações do campo agroecológico, o que explica a convivência atual de distintos enfoques adotados. Os avanços têm sido mais consistentes nas instituições e redes que conseguem manter o questionamento sistemático sobre suas próprias formas de atuação e que estabelecem processos continuados de aprendizado com base na sistematização de suas experiências metodológicas e no intercâmbio com outras organizações que desenvolvem projetos semelhantes.
Como forma de aprofundamento dessa reflexão e de observação desses aspectos em outras experiências, apresentamos na próxima seção, de modo a evidenciar os desafios da prática, os exemplos das Cadernetas Agroecológicas e do Método Lume – Método de Análise Econômico-Ecológico de Agroecossistemas.
O DESAFIO DA PRÁTICA: EXPERIÊNCIAS QUE SE PAUTAM NA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO E NO DIÁLOGO DE SABERES
O movimento que várias teorias, autores/as e militantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil têm feito no sentido de questionar a ciência como espaço único de produção de saberes e, ao mesmo tempo, colocar em prática as reflexões e discursos sobre a construção coletiva de conhecimento e diálogo entre diferentes saberes encontra um caminho de expressão prática em algumas metodologias de trabalho, formação, mobilização e monitoramento das ações de agricultoras e agricultores familiares, camponesas/es, indígenas, quilombolas, etc. Como exemplos, escolhemos citar aqui as Cadernetas Agroecológicas e o Método Lume, buscando perceber quais contribuições essas experiências têm dado à construção da agroecologia no sentido de partir dos conhecimentos e saberes construídos pelos sujeitos em seus territórios de vida e trabalho, no diálogo com outras perspectivas, como as acadêmicas e técnicas, possibilitando, inclusive, revisões conceituais da própria agroecologia.
AS CADERNETAS AGROECOLÓGICAS
A Caderneta Agroecológica é um instrumento político-pedagógico que integra uma metodologia que envolve outros instrumentos (os mapas da sociobiodiversidade e os questionários socioeconômicos), criado pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) em parceria com o Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas. A Caderneta consiste em uma tabela com quatro colunas que buscam identificar os trabalhos e as produções das mulheres: as colunas do consumo, da troca, da doação e da venda possibilitam mostrar a quantidade, diversidade e valor econômico da produção para o autoconsumo e para geração de renda (direta e indireta) das mulheres rurais (CARDOSO, et al., 2019).
Ela tem por objetivo visibilizar, valorar e valorizar o trabalho e a produção das agricultoras rurais, potencializando e buscando fortalecer sua autonomia social e econômica. O instrumento foi criado como parte de um processo formativo que buscava formas de contribuir para que as mulheres agricultoras familiares conseguissem refletir sobre seu trabalho, sua vida, sua contribuição para a economia e a renda familiar, e se tornou uma forma potente de registrar e monitorar a produção, dando luz para como essas mulheres vinham garantindo segurança alimentar e renda para suas famílias e comunidades, além de preservar a sociobiodiversidade a partir, principalmente, de seus quintais produtivos (JALIL; CARDOSO; RODY, 2021). Podemos identificar, assim,
saBeres, sujeitos e PoLíticas 121 características da lógica da coprodução, conforme definida por Sheila Jasanoff (2004), na construção e desenvolvimento dessa metodologia.
Segundo as autoras, com o uso das cadernetas, percebe-se que as agricultoras conseguem tanto contabilizar o dinheiro arrecadado com a comercialização de seus produtos, a maioria deles oriundos dos próprios quintais produtivos, quanto entender a importância da produção para autoconsumo e a renda indireta que elas trazem para a economia local. As anotações feitas pelas próprias agricultoras em seu dia a dia servem de referência para que elas mesmas reflitam, entre elas e com suas famílias, sobre a contribuição fundamental do trabalho desenvolvido por elas, tantas vezes invisível, especialmente a produção dos quintais, o beneficiamento da produção e a comercialização do que é considerado como “miudezas”.
A metodologia tem como base as referências agroecológicas e feministas, que consideram a agroecologia como ciência, movimento e prática (GLIESSMAN, 1989; SILIPRANDI, 2009; SEIBERT, 2019) na medida em que esta se apresenta como uma “possibilidade de reorganizar os processos produtivos (agrícolas e pecuários), a distribuição de alimentos e de ampliar os olhares sobre o ato de alimentar a si própria/o e às demais pessoas” (CARDOSO; JALIL; MOREIRA, 2021). Para elas, a agroecologia também é considerada como
novo paradigma para se pensar o desenvolvimento, levando em consideração a diversidade de sujeitos, humanos e não humanos, diretamente envolvidos nesse processo, como: mulheres, juventudes, povos e comunidades tradicionais, povos originários, os animais e a relação com a natureza (...) (com) capacidade (...) de incorporar novas narrativas e fortalecer a ação política de sujeitos que historicamente são invisibilizados e oprimidos (CARDOSO; JALIL; MOREIRA, 2021, p. 3).
Nesse processo, as agricultoras, técnicas e autoras que estudam as cadernetas agroecológicas conseguem refletir sobre a importância da metodologia que, ao partir de um processo coletivo de formação, possibilita que as próprias mulheres tenham o poder e a autonomia sobre os dados que elas colhem da suas próprias realidades, estimulando processos de organização coletiva, espaços de reflexão coletiva e trocas de experiências que contribuem para transformações de realidades de invisibilidade, opressão e violência. Vale destacar que a metodologia afirma a importância de uma assessoria técnica que acompanhe o trabalho, contribua com a sistematização e análise dos dados e atue no estímulo e no fortalecimento dos espaços de troca de conhecimentos e de luta coletiva por políticas públicas, sem perceber a perspectiva da coprodução de conhecimento. Nesse sentido, elas, agricultoras e técnicas, acreditam estar apoiando a construção de uma agroecologia questionadora, crítica, geradora de autonomia e fortalecimento das mulheres, que reconhece e fortalece seus saberes e práticas.
Ao mesmo tempo as Cadernetas, com o aporte da economia feminista, também contribuem para uma compressão ampliada da concepção de trabalho e economia, dando visibilidade aos trabalhos reprodutivos, domésticos e de cuidados, à interdependência entre produção e reprodução e toda a produção que não está no âmbito da esfera mercantil, mediada pelo dinheiro, afirmando a importância de todo o trabalho direcionado à sustentabilidade da vida. Renata Moreno (2013; 2014) faz essa reflexão e afirma que a Economia Feminista mostra “Além do que se vê”, ou seja, joga luz a tanto trabalho e produção invisível das mulheres. Cristina Carrasco (2006) lembra ainda que
la economía feminista no es un intento de ampliar los métodos y teorías existentes para incluir a las mujeres, no consiste como ha afirmado Sandra Harding en la idea de “agregue mujeres y mezcle”. Se trata de algo mucho más profundo: se pretende un cambio radical en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina y permita construir una economía que integre y analice la realidad de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas (CARRASCO, 2006, p. 2-3)
Ao conhecer o instrumento metodológico das Cadernetas, compreender suas bases teóricas e ler sobre sua aplicação, é possível perceber uma série de diferenciais desse instrumento/metodologia no processo de construção de conhecimento agroecológico: foi construída, alterada, atualizada a partir das necessidades das próprias mulheres (que queriam uma forma de provar todo o trabalho realizado por elas), adaptando-se à melhor forma, para elas, de realizar o preenchimento; são as próprias agricultoras que realizam os registros diários de sua produção, sem que nenhum/a pesquisador/a, com seu olhar externo, faça tais anotações; mesmo o instrumento sendo de uso pessoal, a metodologia prevê o uso e debate em grupos, fortalecendo processos coletivos e troca de experiências e saberes.
Pensando nos elementos que Ailton Santos (2007) sintetiza como principais limites e potencialidades das experiências de implementação de alternativas metodológicas, podemos considerar que a metodologia das Cadernetas Agroecológicas foi construída como um enfrentamento a um modelo difusionista de trabalho da assistência técnica e da construção da ciência, como uma forma de construção coletiva a partir do diálogo entre as ideias e concepções teóricas e práticas das técnicas e os conhecimentos e experiências das agricultoras sobre os sentidos e objetivos do registro e levantamento de dados produtivos, negando a relação única na qual as/os agricultoras/es apenas recebem informações levadas pelo conhecimento técnico da racionalidade.
Vimos que a metodologia parte dos problemas que surgem da própria realidade das mulheres, nesse caso da necessidade de visibilizar, valorar e valorizar o trabalho invisível realizado por elas, processo no qual houve uma
e
123 busca de ruptura com a centralidade da lógica do mercado, mostrando o não monetário como fundamental para a sustentabilidade da vida, reforçando, inclusive, a economia das trocas realizadas pelas mulheres, que não eram consideradas. Por fim, com relação ao papel das agricultoras (já que essa é uma metodologia direcionada para o uso, reflexão e luta das mulheres), a autonomia é parte fundamental desde o momento de decisão sobre participar ou não, de se comprometer ou não com o uso e as anotações sistemáticas da Caderneta, o que se dá a partir da percepção da importância que ela pode ter para a própria agricultura ao visibilizar e fortalecer seus saberes e suas práticas, não sendo uma indicação previamente feita pela equipe técnica. A priorização do trabalho com mulheres que estejam organizadas em grupos se dá para que a metodologia seja desenvolvida como parte de um processo coletivo de debate e reflexão, não limitado apenas a um preenchimento individual.
A opção pelo trabalho específico com mulheres se dá por uma decisão de fortalecer sujeitos historicamente excluídos, com uma perspectiva de geração de autonomia, pois elas poderão seguir usando a Caderneta independente da presença de uma equipe técnica que a análise. Para essas mulheres, as Cadernetas se tornam um instrumento de luta, individual e coletiva, usado por elas para se afirmarem como trabalhadoras rurais, conseguirem acesso a políticas públicas para a agricultura familiar e a diversos benefícios sociais, fortalecerem a autoestima e renda, contribuindo para o enfrentamento a diferentes formas de violência.
O MÉTODO LUME
Outro método que tem sido muito utilizado e citado no campo da agroecologia no Brasil tem sido o método de análise econômico-ecológica de agroecossistemas conhecido como Lume. Ele é apresentado como um método de produção coletiva de conhecimentos que levanta e analisa informações sobre o agroecossistema de determinada unidade familiar, ou dos Núcleos Sociais de Gestão dos Agroecossistemas (NSGA) como são nomeados pelo método, com foco na história de vida e da trajetória produtiva e organizativa no território. O método tem como referência teórica os debates da economia ecológica, economia política e economia feminista, ao buscar compreender as dimensões sociais e do trabalho e como se dão as relações econômicas, políticas e ambientais nos modos de vida da agricultura familiar.
O método é aplicado a partir da ida a campo e do uso de alguns instrumentos de coletas de dados pela equipe técnica nas NSGAs em pelo menos dois dias de visitas. Em um primeiro momento é feita uma entrevista semiestruturada com os/as integrantes da família para buscar informações qualitativas sobre a estrutura e o funcionamento do agroecossistema (e seus subsistemas), com
aplicação da linha do tempo, para conhecer a trajetória familiar considerando momentos marcantes para seus membros e o desenvolvimento produtivo. Em seguida, são construídos diagramas de fluxos de insumos e produtos, rendas monetárias e não monetárias e divisão do trabalho por sexo, gênero e esfera de trabalho e, por fim, uma planilha para identificar os níveis dos atributos sistêmicos de sustentabilidade escolhidos para análise, que são: autonomia, responsividade, integração social, equidade de gênero/protagonismo das mulheres, protagonismo juvenil (PETERSEN et al., 2021).
Em um segundo momento, são debatidos os resultados identificados na primeira etapa e aprofundadas as análises quantitativas, com o registro de dados sobre a produção, entradas e saídas, investimentos, retornos, gastos, da NSGA. Com todas as informações lançadas em um sistema próprio, é possível gerar gráficos, indicadores que contribuem para uma análise sistêmica do chamado “desempenho econômico-ecológico do agroecossistema e seus subsistemas”, considerando questões centrais como produção consumida, vendida, doação e trocada (como com as Cadernetas), os custos da produção, as horas trabalhadas por cada membro da família, acesso às políticas públicas etc. (PETERSEN et al., 2021). Vale destacar que a casa passa a ser considerada também como um subsistema, assim como o quintal e as diferentes áreas do roçado.
A partir da leitura dos documentos e da experiência de aplicação do método, é possível perceber que há, com o uso dessa metodologia participativa, a busca pelo levantamento das informações sobre a história da família, sua relação com o território, a construção das suas estratégias para produção e reprodução da vida, que possibilita que as/os próprias/os integrantes da família repensem suas vidas e trajetórias, aprendam com o processo de pesquisa-ação para redirecionar ou reafirmar sua caminhada. Diferente da metodologia das Cadernetas, no Lume são as equipes técnicas que realizam as anotações, registros e lançamentos futuros dos dados para análise, muitas vezes se utilizando da lógica das racionalidades econômica e ecológica. Outro desafio é o tempo que os membros das famílias precisam dispor para o levantamento dos dados a partir das diferentes técnicas utilizadas, que demanda pelo menos 2 dias completos, o que realmente só é possível quando essas pessoas conseguem ver na aplicação dos métodos um processo de aprendizado para si mesmas.
Pensando sobre a lógica da construção de conhecimento na perspectiva agroecológica, sabe-se que o método foi resultado de uma série de exercícios e reflexões coletivas realizadas no âmbito da Rede Ater Nordeste, com contribuições de muitas organizações da sociedade civil (ONGs), redes, grupos de trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e agricultores/as.
Analisando o método Lume a partir dos aspectos destacados por Ailton Santos (2007), podemos considerar que também há um questionamento ao modelo difusionista e uma negação da Revolução Verde na medida em que o método pretende contribuir com um olhar interdisciplinar, partindo do reconhecimento da importância dos conhecimentos oriundos das experiências dos/as próprios/as agricultores/as, além de buscar promover um processo participativo, tornando a coleta dos dados uma forma de construção coletiva de conhecimento sobre o agroecossistema.
Quanto ao método de intervenção, consideramos que a construção se dá com a intenção de contribuir com a produção de informações e dados quanti e qualitativos que subsidiem tanto mudanças nas práticas e estratégias dos próprios agricultores/as em seus agroecossistemas para maior resiliência (pautado não apenas na lógica do mercado), quanto políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa. Para seguir na perspectiva agroecológica crítica, que questiona a lógica difusionista, é importante que os cruzamentos de dados, geração de gráficos e análises feitos pelas equipes técnicas não sejam direcionados apenas pela lógica da racionalidade econômica e ecológica. Esse caminho de uma análise mais sistêmica e transdisciplinar demanda ainda um retorno aos membros do agroecossistema para possibilitar um novo processo de reflexão coletiva e geração de novos conhecimentos, o que os documentos indicam que seja feito.
Com relação ao papel das/os agricultoras/es e o risco da criação de relações verticalizadas e de diferenciação, acreditamos ser importante ressaltar a preocupação do método para que haja uma participação de todos os membros da família, para considerar as diferentes percepções e vivências de mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, etc. Sabemos que a referência à estrutura e lógica familiar é um desafio, pois sabemos que a família é vista historicamente como um ambiente sem conflitos e contradições, o que demanda à metodologia estar atenta para não uniformizar as leituras e ouvir com igualdade todos/ as os/as seus integrantes. A atenção para os subsistemas que podem ser de apenas um/a dos membros também busca dar destaque e registrar a contribuição de mulheres, jovens e idosos, geralmente vistos apenas como complementares aos trabalhos dos homens adultos.
Nesse sentido, o lugar dos quintais produtivos e da casa como subsistemas observados é uma forma de mostrar, valorizar e registrar a grande contribuição econômica, social e ecológica das mulheres, por exemplo. No entanto, estas precisam ser ouvidas sobre todos os espaços, trabalhos e questões, não limitando-as a falar apenas do quintal e da casa. A seleção de determinada família, e não outra, para participar do estudo precisa ser pensada com cautela, para não excluir agroecossistemas que estão em diferentes momentos e processos produtivos e organizativos.
CONCLUSÃO
As reflexões propostas neste artigo tiveram o objetivo de colocar em debate os papéis dos conhecimentos “tradicionais” no processo de produção do conhecimento. Propusemos, nesse sentido, um resgate do histórico de construção daquilo que é considerado científico, a fim de demonstrar o quão limitados, em termos de representatividade de grupos e de abertura de espaços, foram esses processos, a despeito de todo acúmulo de técnicas e saberes reunidos pelos povos tradicionais ao longo de toda a história.
Procuramos debater, então, as metodologias e perspectivas que se dispuseram a questionar esses processos, chamando-nos, por um lado, a estar mais atentos para identificar quem são seus protagonistas, quais são seus locais de realização, seus interesses e as relações de poder envolvidos, como no caso da coprodução (JASANOFF, 2004), por outro, reivindicando o reconhecimento desses saberes tradicionais, tácitos, vernaculares como importantes e legítimos para produção do conhecimento científico, como proposto pela cosmopolítica, e deslocando, inclusive, os espaços de produção de investigação, coleta e análise das informações, como na proposta da etnoecologia.
Fizemos a escolha de tratar da Agroecologia e das experiências de construção de conhecimento agroecológico como contribuição diferencial nesse objetivo, por acreditar em sua defesa intrínseca do diálogo de saberes, da integração e da participação de técnicos/as e agricultores/as coletivamente nesse processo, do questionamento ao paradigma científico tradicional e pela construção de uma nova forma de viver e interpretar o mundo que seja de mais respeito com os povos e com a natureza.
Consideramos que tanto as Cadernetas Agroecológicas quanto o Método Lume conseguiram enfrentar e superar os desafios e limites apresentados por Ailton Santos (2007) na construção de metodologias alternativas ao paradigma hegemônico, o que pode indicar um intercâmbio de experiências ao longo do tempo entre as organizações, para que os erros e obstáculos acumulados em momentos anteriores não mais se repetissem. Ao mesmo tempo, podemos considerar que ambas as metodologias têm se construído a partir de uma lógica que busca reconhecer os conhecimentos desenvolvidos pelas mulheres, homens e jovens, com base nas suas práticas histórica e ancestralmente transmitidas de geração em geração, em diálogo, ou coprodução, como diria Sheila Jasanoff (2004), com os conhecimentos técnicos desenvolvidos no campo da academia e das organizações da sociedade civil.
Também parece haver um reconhecimento por parte das duas metodologias acerca da importância de considerar as diferentes relações políticas, de conhecimento e de identidade, da ecologia das práticas, em cada contexto, dialogando com a lógica da cosmopolítica (BLASER, 2016), assim como
valorizar e potencializar espaços de construção de conhecimento coletiva em comunidade expandidas, como indica a etnoecologia (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).
Conhecimento é poder e, nesse sentido, tanto a Caderneta quanto o método Lume podem ser importantes contribuições para reconhecer, valorizar e possibilitar um diálogo mais profícuo entre os diferentes saberes, tornando-os instrumentos de transformação social e enfrentamento às diferentes situações de injustiça, desigualdade e exclusão.
REFERÊNCIAS
ALTIERI, Miguel Alteri. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. 2. ed. Rio de Janeiro: PTAFASE, 1989.
ARRIGNON, Jacques. Agro-écologie des zones arides et sub-humides. Paris: G-PMasonneuve & Larose/ACCT, 1987.
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
BENSIN, Basil M. Agroecological characteristics description and classification of the local corn varieties chorotypes. Book, 1928.
BENSIN, Basil M. Possibilities for international cooperation in agroecological investigations, Int. Rev. Agr. Mo. Bull. Agr. Sci. Pract. (Rome) 21, 277–284, 1930.
BENSON, J. Kenneth. Interorganizational networks and policy sectors. In: ROGERS, David; WHETTER, David (eds.). Interorganizational coordination. Iowa: Iowa University Press, 1983.
BLASER, Mario. Is another cosmopolitics possible? Cultural Anthropology, v. 31, n. 4, 2016.
CARDOSO, Elizabeth [et al.]. Guia metodológico da caderneta agroecológica, Recife: FIDA, 2019.
CARDOSO, Elisabeth; JALIL, Laeticia; MOREIRA, Sarah. As mulheres na construção do conhecimento agroecológico. Cadernos de Agroecologia. Diálogos Convergências e divergências: mulheres, feminismos e agroecologia, v. 16, n. 1, 2021.
CARRASCO, Cristina. La economía feminista: una apuesta por otra economía. In: VARA, Maria Jesús (Coord.). Estudios sobre género y economia. Madrid: Akal. 2006.
GUZMÁN CASADO, Gloria Isabel; GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel; SEVILLA-GUZMÁN, Eduardo (coord.). Introducción a la agroecología como desarrollo sostenible. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, vol. 95, n. 1, p. 213-217, 2001.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Questões suscitadas pelo conhecimento tradicional. Revista de Antropologia, v. 55, n. 1, 2012. p. 439-464.
FARIA, Andrea Alice. A Educação que constrói a Agroecologia no Brasil: trajetórias de um vínculo histórico. 204f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 2017.
FEYERABEND, Paul. La ciencia en una sociedad libre. Siglo XXI. México D.F., 1982.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000.
JASANOFF, Sheila. Ordering knowledge, ordering society. ________. States of knowledge: the co-production of science and social order. London and New York: Routledge, 2004. p. 13-45. ____________. Tecnologias da humildade: participação cidadã na governança da ciência. Revista Sociedade e Estado, v. 34, n. 2, maio/agosto 2019.
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, [1962] 1998. Capítulos 1 a 9, p. 19174. Posfácio, p. 217-257.
(orgs.)
LOPES, Bárbara Letícia; SOBRINHO, Daniele Taís Silva; MORAIS, Isabela Angélica de; SOUZA, Lauanda Lopes de. Cadernos de Agroecologia – ISSN 2236-7934 – Diálogos Convergências e divergências: mulheres, feminismos e agroecologia, v. 16, n. 1, 2021.
LÉVI-STRAUSS, Claude. El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica, 1964.
MOORE JUNIOR, Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na construção do mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1975.
MOREIRA, Sarah Luiza de Souza. A contribuição da Marcha das Margaridas na construção das políticas públicas de agroecologia no Brasil. 2019. 193 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural). Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
MORENO, Renata Faleiros Camargo. Além do que se vê – Uma leitura da contribuição do feminismo para a economia. 2013. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas e Sociais) – Universidade federal do ABC (UFABC), Santo André, 2013.
___________. A Economia na agenda política do feminismo. In: Feminismo, economia e política: debates para a construção da igualdade e autonomia das mulheres / Renata Moreno (Org.). São Paulo: SOF Sempreviva Organização Feminista, 2014.
JALIL, Laeticia; CARDOSO, Elisabeth; RODY, Thalita. As cadernetas agroecológicas e a construção do saber feminista. In. RODY, Thalita; TELLES, Liliam (orgs.). Caderneta agroecológica: o saber e o fazer das mulheres do campo, das florestas e das águas. Viçosa, MG: Editora Asa Pequena, 2021.
ODUM, Eugene P. The strategy of ecosystem development. Science, Washington, v. 164, p. 262-70, 1969.
PETERSEN, Paulo. Introdução. In: Articulação Nacional de Agroecologia, Construção do Conhecimento Agroecológico: Novos Papéis, Novas Identidades. Caderno do II Encontro Nacional de Agroecologia, 2007, p. 6-18.
PETERSEN, Paulo [et al.]. Lume: método de análise econômico-ecológico de agroecossistemas. 1. ed. Rio de Janeiro: AS.PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia, 2021.
___________. Método de análise econômico-ecológica de Agroecossistemas. Articulação Nacional de Agroecologia (Brasil). 1. ed. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2017.
SANTOS, Ailton Dias dos. Construção do conhecimento agroecológico: síntese de dez experiências desenvolvidas por organizações vinculadas à Articulação Nacional de Agroecologia. In: Articulação Nacional de Agroecologia, Construção do Conhecimento Agroecológico: Novos Papéis, Novas Identidades. Caderno do II Encontro Nacional de Agroecologia, 2007, p. 21-38.
SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. Uma estratégia da sustentabilidade a partir da agroecologia. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, vol. 1, nº 1, p. 35-45, jan./mar., 2001.
___________. Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta desde Latinoamérica. In: Agroecología: El camino hacia una agricultura sustentable (Sarandón S, ed.). Buenos Aires-La-Plata: Ediciones Científicas Americanas, pp. 57-81, 2002.
STENGER, Isabel. The Cosmopolitical Proposal. In Making Things Public: Atmospheres of Democracy, edited by Bruno Latour and Peter Weibel. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005, 994–1003.
TISCHLER, Wolfgang. Agrarokologie. Jena, Germany: Gustav Fischer Verlag, 1965.
TOLEDO, Victor Manuel; BARRERA-BASSOLS, Narciso. A etnoecologia: uma ciência pós-normal que estuda as sabedorias tradicionais. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 20, 2009. p. 31-45.
VILLORO, Luis. Creer, Saber, Conocer. Siglo XXI Editores, México, 1982.
WEZEL, Alexander et al. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, v. 29, n. 4, p. 503-515, 2009.
caPítulo 7
PercePçõeS Sobre conheciMentoS e ciênciaS na exPeriência zaPatiSta
Victória Batistela Silva Rodrigues
INTRODUÇÃO
Este trabalho discute a relação que o zapatismo estabelece com a ciência moderna: a percepção que possui sobre sua função, funcionamento e objetivo. A partir disso, descreve-se a forma zapatista de construir, propagar e apropria-se do conhecimento e, finalmente, as críticas e sugestões de refundação dos alicerces da ciência moderna para que esta chegue a cumprir a função do conhecimento que o movimento crê como essencial. Portanto, toda esta discussão tem como objetivo explicitar a maneira pela qual o zapatismo se relaciona com os conhecimentos: científico e o produzido por ele mesmo.
Para tanto, utilizou-se como principais fontes de dados os textos zapatistas que versam sobre os assuntos tratados. Há três encontros promovidos pelos zapatistas para elaboração dos elementos do mundo que almeja-se construir que são os mais importantes para o escopo analítico desta pesquisa, a saber: o Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, em maio de 2015, o CompArte por la Humanidad, em 2016, 2017 e 2018, e L@s zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad, em 2016 e 2017.
El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista consistiu em uma “sementeira” organizada em Chiapas em maio de 2015 (GALEANO, 2021, p. 7).
Nesse encontro, os zapatistas se reuniram com diversos agentes da sociedade civil para elaborar o que se entende como pensamento crítico, e como esse pensamento deve orientar a luta contra a Hidra capitalista.
Já o Festival CompArte por la Humanidad (EZLN, 2021) consistiu em encontros cujo foco eram as artes, sendo que, sustentado pela criatividade imanente à arte, um dos seus principais objetivos foi o combate frontal da “criação” contra a “destruição”, para mostrar que um outro mundo e outro tipo de
relações sociais entre os atores da história são possíveis. Para isso, o sociólogo mexicano Pablo González Casanova narra que os zapatistas
se dieron a la tarea de concebir y realizar obras en su mayoría colectivas, entre la montaña y la selva, para participar en este encuentro internacional. [...] Las palabras del Subcomandante Moisés, el día 3 de agosto de 2016, en el comunicado titulado “El arte que no se ve ni se escucha”, hablan del arte que los zapatistas practican, en la creación de los pueblos y en el hacer desde abajo. Donde la capacidad de crear puede transformarnos como personas y colectividades y donde el hacer del arte no sea más una mercancía, sino una materialidad con cuerpo y con almas que con su voz pintada, bordada, cantada y bailada permita traspasar las fronteras de los “sin voz”, de quienes no se ven ni se escuchan (CASANOVA, 2003, p. 14).
Delegando à economia política fulcralidade à explicação das relações, o Subcomandante Insurgente (SCI) Galeano, no texto “Sherlock Holmes, Euclides, os erros de digitação e as ciências sociais”, afirma: “o zapatismo não é capaz de explicar a si próprio. Ele precisa de conceitos, teorias e pensamentos críticos para entender a si próprio” (GALEANO, 2021, p. 108), e recorrem a conceitos, teorias e pensamentos críticos para se compreenderem1. Nesse âmbito, em 2016 e 2017 organizaram duas edições do evento “L@s zapatistas y las ConCiencias por la humanidad”, expondo que a crítica contundente à modernidade não significa um movimento automático em repelir todas as suas produções. A antropóloga Ana Paula Morel, numa conferência do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), afirmou que o ConCiencias por la Humanidad teve como proposta reunir cientistas de diversos lugares do mundo para ensinar ciência (e, quem sabe, aprender algo). [...] pois para os subcomandantes zapatistas, os conhecimentos indígenas são fundamentais, mas não são suficientes para enfrentar o Antropoceno. [...] O ConCiencias não foi apenas uma maneira de os zapatistas se apropriarem das “benfeitorias da ciência”, mas, um experimento no sentido cosmopolítico. O encontro propõe um deslocamento do político para sua
1 Sobre a ideia, Ana Paula Morel comenta: “Para os subcomandantes zapatistas, os conhecimentos indígenas são fundamentais, mas não são suficientes para enfrentar o Antropoceno. Segundo eles, as mudanças no meio-ambiente causadas pela hidra capitalista afetam as comunidades de modo que os conhecimentos tradicionais parecem não dar conta da nova realidade. Para exemplificar essas transformações, o Subcomandante Moisés menciona que nas plantações de milho feitas na selva antigamente eram necessários 3 meses para poder colher. Atualmente, os indígenas da região não podem mais contar com o ciclo antigo, pois o tempo de colheita diminuiu bastante. Diante deste cenário, o conhecimento científico pode ajudar a compreender melhor essas mudanças e criar soluções.” (Fonte: https://conferenciaclacso.org/programa/resumen_ponencia.php?&ponencia=Conf-1-6292-40445&. Acesso em: 04 de janeiro de 2023).
131 reinvenção em lugares onde a ideia de que “isso não é político” deixa espaço para a inventividade capitalista (MOREL, 2023).
Ainda segundo a antropóloga, o SCI Galeano, que nesse encontro se autodenomina “Alquimista Galeano”, afirmou que sua proposta não seria que os zapatistas fossem à universidade, mas que a universidade “se levante en nuestras comunidades, que enseñe y aprenda entre nuestra gente” (MOREL, 2023). Assim, ainda que o evento contasse com a presença de apoiadores não indígenas, os únicos que podiam se manifestar, para além dos convidados cientistas, eram os indígenas zapatistas presentes, que colocavam suas perguntas elaboradas a partir das comunidades.2
A mobilização desse encontro se justifica no presente trabalho porque, para além de seu caráter informativo, aqui também cotejam-se algumas discussões e teorias modernas à ciência zapatista, pondo em diálogo ideias zapatistas com as de alguns autores e ideias teorizadas no escopo da ciência moderna. Discute-se a possibilidade de estabelecer diálogos entre diferentes sistemas de pensamento a partir das ideias dos zapatistas, que defendem a autonomia e a apropriação da palavra para expressar realidades pertinentes ao grupo que enuncia.
Finalmente, em consonância com o eco do grito anticonquista, propõe-se que se inverta a convenção da narrativa científica acerca dos “conhecimentos alternativos”. Os zapatistas falam sobre a ciência moderna, tecem críticas, apropriam-se dela, percebem-na. Partindo da ideia zapatista da centralidade das ciências e das artes como as alternativas âncoras à possibilidade de construção de um mundo justo, e contradizendo a convencional visão da limitação indígena aos conhecimentos tradicionais, os eventos focaram no diálogo entre cientistas e jovens zapatistas de forma a fazê-los expoentes dos conhecimentos coerentes à visão zapatista no interior de suas comunidades.
A LUTA POR VERDADE E JUSTIÇA EM AYOTZINAPA: O QUE DESVELA SOBRE O PENSAMENTO CRÍTICO ZAPATISTA
No dia 26 de setembro de 2014, 43 estudantes da Escola Normal Rural Raúl Isidro Burgos em Ayotzinapa – uma escola de formação de professores para estudantes pobres, camponeses e muitas vezes indígenas – apanharam cinco ônibus privados. O objetivo dos normalistas era chegar à manifestação de 2 de Outubro na Cidade do México para protestar em memória ao assassinato de mais de 300 pessoas na Praça Tlatelolco, em 1968, pelo exército mexicano.
2 Fonte: https://conferenciaclacso.org/programa/resumen_ponencia.php?&ponencia=Conf-1-629240445& Acesso em: 04 de janeiro de 2023.
Contudo, foram interceptados pela polícia no caminho, e os 43 estudantes desapareceram sem deixar rastro.
A versão oficial dos acontecimentos dada pelo governo mexicano, então presidido por Enrique Peña Nieto, foi que os membros da polícia, aliados com o cartel Guerreros Unidos, entregaram os estudantes aos narcotraficantes, e que estes os incineraram no aterro sanitário de Cocula, e depois atiraram os restos mortais no rio San Juan. Esse relato foi chamado de a “verdade histórica” e, ao longo dos anos, tem sido refutado por grupos de peritos independentes e pelas famílias. Membros do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes (GIEI)3 denunciaram, no final de março, que membros da Secretaria da Marinha manipularam o lixão de Cocula. 4
O emblemático episódio de Ayotzinapa que assolou o país é mobilizado aqui para discutir o que o SCI. Galeano explica como pensamento crítico. A inspiração para organização da sementeira “o pensamento crítico frente à Hidra capitalista” consistiu na luta dos familiares dos jovens de Ayotzinapa, situação que é narrada por Mehl (2016) como “morte e desaparecimento forçado, violência conduzida pela polícia mexicana dos estudantes normalistas da Escola Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no dia 26 de setembro de 2014, que corresponde a um tipo de instituição que forma líderes sociais, geralmente pobres e do campo”.
O SCI Galeano também aproxima Ayotzinapa da ideia de desaparecimento forçado. Há um lamento, denúncia e inconformidade em seu relato:
Como superar uma ausência inexplicável? Um abismo sem fundo, uma queda contínua, assim, um terror que não cessa de aumentar. Aqui embaixo, ao contrário, Ayotzinapa significa a busca obstinada por VERDADE E JUSTIÇA. E a MANEIRA DE BUSCAR é martelando PERGUNTAS no coração de um estado, país, um continente, um mundo que exsuda sangue e merda por todo lado. Por quê? Quem? Para quem? O que se ganha? […] a conta não fecha, estamos “no vermelho”, VERMELHO DE SANGUE, vermelho de perda, vermelho de pânico [...] Como se Ayotzinapa fosse também uma luta entre os de baixo querendo SOMAR e os de cima tentando SUBTRAIR […] a luta por verdade e justiça em Ayotzinapa é dar voz a uma causa universal, Ayotzinapa deixa de ser um número e se converte naquilo que É POR SI SÓ: UMA FERIDA, em que os de cima desejam convertê-la em uma CICATRIZ (GALEANO, 2021, p. 72-73).
Pode-se compreender a afinidade entre um movimento de denúncia e que persegue a verdade – uma vez que os familiares desenvolveram uma luta
3 O Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes é um comitê de juristas e médicos criado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para realizar uma investigação paralela do sequestro e desaparecimento dos 43 estudantes.
4 Fontes: Santos (2022) e OAS (2020).
obstinada por respostas reais sobre os acontecimentos desse massacre, assim como amplos setores da sociedade civil mexicana – com um ciclo de debates sobre pensamentos que são críticos.
O SCI Galeano ilustra essa noção de “pensamentos que são críticos” quando mobiliza a presença de um companheiro, em que se colocam diante um do outro orientados por um assunto comum. Ambos acionam ideias ora mais simples, ora confusas, ora mais complexas para tratá-lo. Anuncia que essa é a dinâmica genética do pensamento crítico, quer dizer, a troca de ideias sobre o assunto que não localiza como fim a incorporação de um pelo outro para vias de desaparecimento da ideia que padece (GALEANO, 2021).
Estimulado pela pergunta “por que isso e não outra coisa?” (GALEANO, p. 49), confere-se estatuto material às possibilidades quando se assume que as contingências habitam no campo da percepção e da prefiguração. Levando toda essa ideia em consideração, entende-se que, segundo o zapatismo, é mais acertado compreender a manifestação do real pela via da opção do que por uma das alternativas que conformam as possibilidades. Daí, uma vez revelada a concretude da prefiguração, exclui-se a impossibilidade das demais alternativas, ou seja, de uma expressão material diferente.
Esse processo também se sustenta, sobretudo, em termos de um ethos zapatista, através de outra pergunta imperativa: “o que vem depois?”. Ou seja, o pensamento crítico passa pela provocação de uma discussão que elabora o cenário que se prefigura. Dessa forma, evidencia-se a dimensão provocativa do processo que permeia a construção crítica do pensamento. Nessa esteira, tão importante quanto as conclusões mais homogêneas que serão partilhadas pelo EZLN é o processo que corresponde às interações entre ideias múltiplas – em natureza, empirismo e pessoalidade – que preparam o terreno e constroem lastro para que os zapatistas possam refletir a respeito do que virá depois.
O panorama permite a mobilização de qualitativos para tratar a realidade, contanto que o debate não se restrinja a eles, uma vez que a finalidade é a abundância. O pensamento crítico, por isso, revela que o que poderia ser já é. Com isso, atesto, colocando em diálogo os diagnósticos zapatistas com o arcabouço categorial de Pierre Clastres (2020), que o capitalismo, que pode corresponder ao “Um sem o Múltiplo”, já está sob ameaça5
5 Mobiliza-se aqui um aporte do antropólogo para dialogar com os “pensamentos que são críticos”. O antropólogo afirma que a Terra imperfeita do deus Tupã, na que paira maldade por uma bruma leve, preconiza que a totalidade enquanto Uma concerne à genealogia da desgraça, quer dizer, no momento originário da totalidade enquanto Uma, a injustiça dura é inerente. Por isso, enraizado na maldade do Um, o pensamento ocidental reconhece a marca do Um sobre todas as coisas e assim enrijece o deboche do Múltiplo, isto é, constrange a potência do dois (CLASTRES, 2020, p. 152156). Tracejando contiguidades, o zapatismo, ao passo que denuncia que a totalidade enquanto unidade é forjada e, assim, não alcança onipresença, lança-se aguerridamente à dissolução do im-
Quando o SCI Galeano, na ocasião da sementeira, versa sobre as pessoas não zapatistas que desejam se aproximar do movimento destaca a condição de que levem contribuições para o estímulo do debate, a complexificação da realidade e a contemplação dos horizontes, além de colaborarem com o processo de entendimento de desafios e a reflexão por soluções. Em outras palavras, que os ajudem a desvendar o funcionamento da Hidra (GALEANO, 2021, p. 25).
O EZLN sustenta que aqueles que fazem esse movimento consistentemente também são zapatistas, mas ainda não o sabem. Mesmo que as ideias mobilizadas difiram das dos zapatistas e não os convençam, esse relacionamento ajuda-lhes a compreender que a diversidade de posicionamentos e percepções será sancionada pela realidade.
Conforme a existência é percebida em sua abundância, a possibilidade de subversão da realidade que se apresenta contemporaneamente corresponde, pois, a perseguir uma forma de vida digna e fértil. O que está em perspectiva nas duas indagações-chave do pensamento crítico é a transformação de uma realidade. Sem que as tarefas de pensamento e ação se apresentem por autonomias, entende-se que as ideias que não mobilizam ações não chegam a ser críticas, assim como a prática desorientada do pensamento crítico é esvaziada de finalidade.
Assim, no escopo do zapatismo, a forma a partir da qual o capitalismo concebe a realidade apenas a tangencia. Por isso, propõe metodologia de acesso à verdade, que consiste na confrontação da realidade com perguntas que façam sentido às realidades contingentes. Dessa forma é que a história fiel aos diversos grupos sociais vai se formando, tornando-se deles e sobre eles. Portanto, a história se complexifica e se fideliza à realidade na medida em que ela se incorpora de vivências narradas em sua diversidade e heterogeneidade.
A GENEALOGIA COMO METODOLOGIA DE ACESSO A VERDADES
Retomando-se o tema a respeito da elaboração de perguntas não autorizadas para transgressão das narrativas tuteladas, que produzem resistência narrativa e narrativas de resistência, o zapatismo assume que a mobilização da ideia de genealogia é fulcral. Isso quer dizer que o entendimento de uma “coisa” passa por conhecer sua história e entender o quê, apesar das mudanças e adaptações através do tempo, permanece consistente e lhe confere sua característica essencial. Quanto ao que se convém tratar como radicalidade, o zapatismo declara: “na escolha entre observar a árvore ou a floresta, nós esco-
pério do Um. Se a morte é destino daquilo que é Um, orientar a vida pelo dois significa gozar das potências secretas de todos os seres.
135 lhemos a raíz … nossa rebeldia é nosso NÃO para o sistema. Nossa resistência é nosso SIM para a ideia de que outra coisa é possível.” (GALEANO, 2021, p. 57). Contudo, ainda, traduzindo os elementos da ciência zapatista nos termos da ciência moderna, reforçam que a resistência zapatista é sua bibliografia, ao passo que sua prática corresponde à metateoria.
Nesse escopo, cabe apresentar o capitalismo a partir da forma como os zapatistas caracterizam, que é vinculado à ideia de “Hidra”. Recorrendo à mitologia grega, a Hidra se apresenta como um monstro composto por diversas cabeças que agem em conjunção, cuja morte é dificultada pelo movimento automático de renascimento de cabeças quando uma delas é decapitada. A metáfora da Hidra Capitalista é pertinente à experiência zapatista justamente pela multiplicidade de formas de dominação que uma mesma raiz determina, além de sua plasticidade para adentrar múltiplos níveis da vida que desenvolvem-se dinamicamente. Uma vez que o “capitalismo cabeçudo não te morde de um só lado, e sim de muitos lados”6, opor-se à Hidra denota um combate de morte, quer dizer, uma guerra, cujo objetivo zapatista é destruir o inimigo.7
Diante disso, se morte e destruição são os elementos que o zapatismo assume como os que dão vida à Hidra, logo a morte e a destruição são os elementos que o zapatismo assume como inimigos civilizacionais, e que se empenhará em combater. O SCI Galeano (2021, p. 72) denuncia: “aos pés da Hidra, suas vítimas prediletas: a verdade e a justiça”, ou seja, parece que a morte e a destruição significam necessariamente padecimento da verdade e da justiça. Entende-se que por isso, talvez, Ayotzinapa seja tão significativo. Uma vez que a luta por verdade e justiça em Ayotzinapa dá voz a uma causa universal, “Ayotzinapa deixa de ser um número e se converte naquilo que é por si só: uma ferida, em que os de cima desejam convertê-la em uma cicatriz” (GALEANO, 2021, p. 72).
Os zapatistas consideram que uma forma confrontativa de materializar a luta obstinada por verdade e justiça se conforma quando perturba-se o sistema com perguntas irreverentes. Em Ayotzinapa, a espera pelo tempo dos familiares de expressarem essa demanda corresponde ao que assumem como o “processo de conhecer”, quer dizer, o conhecimento consiste em aguardar a palavra e, quando revelada, tomá-la para si. A confrontação da realidade trilha ao entendimento de que o pensamento crítico moderno, nas configurações
6 Termos da menina Defensa Zapatista, uma das personagens protagonistas do Subcomandante Insurgente Galeano em seus contos assinados pelo pseudônimo de gato-perro.
7 Jérôme Baschet elaborou a discussão acerca da adoção dessa ideia no movimento zapatista. Diz que existe uma crítica à adoção de terminologia pertencente à mitologia grega no interior do zapatismo sobretudo em função da mobilização da figura de Hércules, quem vence a Hidra, denotando que essa pode ser uma batalha individual, além da interpretação histórica ambivalente relacionada à simbologia de Hércules ao poder civilizatório monárquico (BASCHET, 2021, p. 220-223).
atuais, não é capaz de desmontar a persistência da Hidra no sistema, por isso confrontar a realidade com o atrevimento das perguntas dos de baixo capilariza o processo de mapeamento genealógico da Hidra, oxigenando possibilidades de enfrentamento e permitindo que se arranque da realidade as condições de sobrevivência no percurso.
Na ocasião dos Congressos Nacionais Indígenas, os zapatistas debateram o tema da “espoliação” para se apropriarem dele. Estabelecendo diálogo com a ideia central da “Sociedade contra o Estado” de Pierre Clastres, concluem que o sistema jurídico, esta instituição tão principal ao Estado democrático, não passa de um meio de espoliação para os povos originários. Costuram a linha teórica que vincula a teoria da acumulação primitiva de Karla Marx8 (2011) e a teoria de acumulação por despossessão de David Harvey (2005) quando testemunham que o capitalismo tenta, sistematicamente, fazer voltar o relógio da história, ou seja, ao processo primitivo de acumulação, o espaço-tempo em que nasceu como sistema e, nessa marcha centrífuga, do mundo escorre sangue e lama continuadamente.
Empregando o presente do indicativo, anuncia-se: “o que os povos originários estão fazendo, e não apenas no México, é fornecer dados concretos sobre o roubo” (GALEANO, 2021, p. 139). Entretanto, além disso, estão provocando a comunidade científica a debruçar-se sobre esses dados: “quando o zapatismo, sempre tão impopular, adverte que está enxergando sinais de uma tormenta sistêmica mundial, não espera likes, mas uma análise científica séria que confirme ou descarte esses sinais. E, ao exigir uma explicação científica, o zapatismo está questionando o método ou indicando a falta de método.” (GALEANO, 2021, p. 142-143)
Nesse sentido de “extração de verdades” – que significa permanecer vivo e descobrir os caminhos que levam à destruição da Hidra – é proposto um exercício metodológico e analítico interessante, relacionando a possibilidade de compreensão à reconstituição do cenário que deseja ser compreendido, imaginando todas as suas etapas a partir da consciência interna pessoal de quem deseja compreendê-lo. Essa maneira de tratar um acontecimento se opõe à forma sintética de observá-lo, quer dizer, que prioriza inferências sobre impactos futuros do objeto de reflexão.
Os processos de reconstituição a partir das consciências próprias dos grupos oferece uma potência criadora e imaginativa de outros mundos, de observar vários mundos naquela trajetória de acontecimentos, de poder explicar
8 Tratar Karl Marx por Karla Marx é uma forma transfiguradora da realidade que o SCI. Marcos utiliza em suas narrativas não por uma intenção “antimarxista progressista”, mas sustentado na imaginação da realidade para além das interpretações convencionais. Entendo que se trata de uma provocação à imaginação do interlocutor.
de muitas formas e, por isso, traçar horizontes diferentes daqueles intuitivos e que seguem as lógicas internas da hegemonia do sistema. Nesse cenário de previsão, prevenção, sobrevivência e potência de transformação, assume-se a importância da ciência e das teorias em função da possibilidade de entendimento do funcionamento da Hidra para ações mais acertadas.
Segundo o zapatismo, a crise fulcral do sistema consiste na apropriação desse arcabouço científico que conduz a utilizá-lo para colocá-lo em confronto com a realidade. Nisto consiste o que se define como pensamento crítico. A genealogia, sumariamente, corresponde ao delineio histórico da Hidra. Conferindo seus elementos permanentes ao longo da história, atinge-se a realidade radicalmente, e as táticas e estratégias para transformá-la se refinam. Tratando-se de um imperativo civilizacional pela sobrevivência, as Ciências Sociais, nesse sentido, precisam funcionar como um “telescópio orbital anticapitalista” (GALEANO, 2021, p. 146), ao passo que representam um arcabouço de ideias a serem estudadas para traçar a genealogia do capitalismo. Recuperando contribuições de Darling (2020) à discussão sobre epistemologia zapatista, a autora aporta uma diferença importante na dinâmica comunicativa das línguas indo-europeias e das dos grupos maias. O caráter unidirecional daquelas – em que se fala a alguém, escuta-se a mensagem e logo se responde a mensagem – limita a intersubjetividade da comunicação. De forma diferente, nas interlocuções maias, as sentenças são bidirecionais, dialógicas, em que a percepção de comunicar atravesse os sujeitos de forma a dar-se pela complementaridade entre iguais, cuja partilha do entendimento culmina na sensação de respeito. Esse funcionamento efetivamente põe em xeque os fundamentos cartesianos da cultura comunicativa ocidental. Além disso, a permanência da intersubjetividade na realidade da vida requer que a comunicação seja operada para além do discursivo.
El legado de estas narrativas indican que los relatos orales han sido portadores de mensajes liberadores, muchas veces utilizados como motivación para no dejarse vencer por la adversidad. La lucha contra las injusticias forma parte del alma de estos relatos que se actualizan reproduciéndose en la voz de quienes los relatan, otorgándole valor propio a la palabra. De la dimensión simbólica cobran realidad y se constituyen en guía y referencia de buena conducta. El EZLN ha recuperado el valor de la palabra inmersa en mitos y narrativas tradicionales (DARLING, 2020, p. 11).
Contra toda a violência sistemática do exercício de poder alicerçado no conhecimento, que forja uma realidade limitada, o EZLN aciona a ideia de “memórias teimosas, memórias obstinadas que simplesmente não esquecem e, assim, lutam” (GALEANO, 2021, p. 27). Em contraste à frivolidade da memória capitalista, baseada em verdades cartesianas sustentadas apenas naquilo
que é autorizado a existir, a memória obstinada é arquivo revolucionário que avança sobre o porvir.
Os zapatistas também mobilizam Immanuel Wallerstein ao anunciarem que partilham com o teórico um mesmo prognóstico: a iminente crise estrutural do sistema. É possível assumir que o sociólogo estadunidense e os zapatistas tecem prenúncios que se acordam. Com relação a essa previsão, as ideias de “subtelescópio” e “drone subterrâneo” são empregadas de forma representativa numa confrontação explícita à lógica cartesiana por apropriação e transfiguração de imaginário.
[Este] drone [permite] alcançar uma visão de conjunto da resistência zapatista, resistência zapatista entendida como um esforço coletivo. Esse drone com o qual podem contar é o Subcomandante Insurgente Moisés; por trabalhos anteriores e cargo atual, conhece como ninguém a genealogia da resistência zapatista […] escutem e leiam o que ele diz. Através de suas palavras, vocês poderão vislumbrar uma história terrível e maravilhosa. Entenderão como ele é um drone subterrâneo e terão o privilégio de olhar desde as profundezas zapatistas […] o que vai lhes contar não encontrarão em nenhum outro lugar (GALEANO, 2021, p. 58).
O apelo à genealogia é exemplificado num exercício fotográfico tempo-espacial. A observação da realidade in situ denuncia o caos desarticulado da dimensão temporal. Acionando um distanciamento temporal, poder-se-á observar certa coesão entre as imagens capturadas fotograficamente. A realidade finalmente poderá ser aproximada por esse processo sistemático de relações dialéticas entre o momento presente com os anteriores: desenha-se um processo genealógico da realidade. Nesse momento, a materialidade é imperativa em detrimento da supervalorização da capacidade das experiências individuais de conduzir à verdade e, em seguida, à justiça. A história, pois, é percebida como a “genealogia das dores e feridas da humanidade” (GALEANO, 2021, p. 165).
Nesse sentido, a escolha de palavras que explicam o que se observa genealogicamente é voraz: entende-se que o caos é administrado para produzir destruições propositivas sustentado numa corrupção ancestral. O emprego da ideia de corrupção ancestral configura um jogo de palavras interessante, porque a ideia de ancestralidade se emprega para tratar do antigo e do exótico, comumente associado aos povos originários. Aqui, a corrupção, um fenômeno pertencente às dinâmicas políticas e sociais da modernidade, é associada à ideia de ancestralidade, denunciando a persistência de um fenômeno danoso que o sistema recusa em tornar obsoleto.
Finalmente, imbrica-se o capitalismo ao Estado. As maneiras de operação da Hidra capitalista parecem corresponder às instituições do Estado-nação.
A ideia de “caos administrado”, acionada pelo Sub Galeano, é o que inicia a
saBeres, sujeitos e PoLíticas 139 compreensão dessa estrutura que, trocando em miúdos, tem a função de administrar o caos. Ainda assim, indaga: “os problemas sociais se devem a uma falta de capacidade administrativa, de vocação política, de proibidade, de visão do Estado? Ou são a consequência iniludível de um sistema social?” (GALEANO, 2021, p. 163). Assim, o esforço em esclarecer as estruturas do Estado-nação que se mantêm constantes em sua história é complexo e urgente, porque daí poderá compreender-se exatamente aquilo que lhe é essencial e, dessa forma, traçar estratégias para superação de suas aparentes intransponibilidades.
O zapatismo diagnostica: a contradição entre opressão e resistência é uma dinâmica permanente no sistema capitalista sustentado pelo Estado-nação. Contudo, a história da ciência corresponde ao invento de ferramentas para opressão daqueles que resistem: a natureza e a humanidade. Logo, a genealogia da ciência também deve ser observada pela lupa da luta de classes. O pensamento crítico precisa, imperativamente, “desvelar as bases materiais que explicam a história da Hidra, mas que compreenda e explique também as contradições que atravessam toda a sua genealogia” (GALEANO, p. 167).
Com relação ao imperativo zapatista de desvelar as bases materiais que expliquem não apenas a história da Hidra, como também os alicerces de seu funcionamento, mobiliza-se o aporte de Clastres (2011), que vincula ciência, tecnologia e Estado. Nesse olhar, a ciência corresponde ao produtor de aparatos de violência, sobretudo quando limita-se a compreensão de tecnologia aos instrumentos seriados, produzidos fabrilmente, e que compõem as dinâmicas mercantilistas. Para o antropólogo, se desconsideramos o caráter técnico dos inventos que cumprem a função de suprir necessidades e otimizar processos em comunidades diversas, qual seria a função determinante da tecnologia como é concebida? Se percebe-se na tecnologia a potência em sujeitar a população ao funcionamento do Estado, afere-se a coerção como um de seus pilares basilares. A percepção da diferença desafia a centralização e, pela via da violência, a tecnologia é continuamente desenvolvida para perpetuar a dinâmica expansiva e centrífuga do capitalismo.
Se a opressão se faz contra natureza e humanidade, o sistema capitalista é um estado permanente de guerra contra tudo. Todavia, aí o zapatismo conclui que a guerra, condição originária do capitalismo, é também sua condição típica. Finalmente, atualizando a teoria de “Karla” Marx, o zapatismo revisa a ideia de acumulação primitiva. Nessa órbita, percebe-se a possibilidade de deslocamento da ideia de “sistema” pela ideia de “guerra mundial”, com a intenção de conferir caráter confrontacional às narrativas críticas. Se o sistema capitalista corresponde à guerra mundial capitalista, a guerra mundial da Hidra se revela contra a natureza e a humanidade. O pensamento crítico, então, deve sempre confrontar a realidade com a urgência da ação, justamente porque essa é uma guerra civilizacional.
ETCÉTERA: O QUE O ZAPATISMO FALA SOBRE AS CIÊNCIAS SOCIAIS
Diante de tudo o que foi abordado anteriormente, o SCI Galeano faz um apelo para que as Ciências Sociais aprendam quatro palavras: “nós ainda não sabemos”, sintetizadas num conceito científico chave: “etcétera”, que corresponde à “síntese de como quando há muitas coisas que você não sabe como chamar” (GALEANO, 2021, p. 113-114). Mesmo que haja resistência em conferir à ideia de “etcétera” uma natureza conceitual, o zapatismo determina-o como um conceito constitutivo daquilo que eles consideram como uma “ciência social sustentada pela criticidade do pensamento”. Ou seja, a ideia de etcétera é um eixo de desenvolvimento daquela ciência social que os zapatistas incorporam à sua realidade para chegar às verdades e, consequentemente, à justiça.
Os zapatistas irão elaborar sua crítica ao que entendem como ciência moderna, tecendo seus aportes através da divisão entre as Ciências Sociais e as Naturais, sendo o foco da presente análise o olhar que possuem sobre as Sociais. Debatem o excesso de contingência que permeia a elaboração teórica das Ciências Sociais, e percebem que por essa concessão, em que cabem tantas exceções quanto confirmações, a excepcionalidade passa a ser regra para cientificidade. Se há consentimento acerca do estatuto científico de cada e qualquer fenômeno trabalhado nas Ciências Sociais, o zapatismo entende que a regra perfeita seria constituída unicamente por exceções, o que corresponderia, segundo o movimento, à base das pseudociências. Esse cenário ancoraria na base das Ciências Sociais a ideia de diferentes teorias para diferentes realidades.
O grande problema nessa questão é quando cada individualidade assume critério de cientificidade, ou seja, que toda experiência individual possa possuir estatuto teórico, e a crítica do EZLN afirma que esse relativismo social é uma intrusão que provocou muitos danos às Ciências Sociais, uma vez que a existência de distintas e diversas realidades não implica que se configurem teorias individualizadas (GALEANO, 2021, p. 105-106). Dirigindo à “hipercontingência” responsabilidade pela confusão nas Ciências Sociais, Galeano lamenta que essa seja uma crise terminal, já que eleva-se o eu-comigo-mesmo à categoria científica (GALEANO, 2021, p. 116).
De qualquer forma, já que o zapatismo precisa se debruçar sobre a ciência e suas teorias, uma vez que partilham o entendimento sobre a importância delas para poder explicar a si próprios, concluem que a função da ciência deveria ser a de dar conta de explicar uma realidade. O EZLN sustenta que os recortes teóricos dentro de um eixo disciplinar armam sua disputa em termos da dominância que podem alcançar, em detrimento do foco ser verdadeiramente o da explicação do fenômeno social. Entendendo que a forma como se explica cada
realidade reforça uma narrativa e um horizonte, a mudança das narrativas se apresenta como possibilidade para que se elaborem outros horizontes e para que se caminhe orientado por esse fim.
No fim, não se trata de opor o individual ao coletivo de forma estrita, mas de compreender que esse arranjo de sublimar a experiência individual a estatuto favorece a desmobilização e a anticoesão no processo de busca pelas ideias que são estruturais nas relações desenvolvidas sob a modernidade. Por isso, admitindo-se cada experiência individual com critério de cientificidade, a elaboração de explicações estruturais sobre os fenômenos fica fragilizada e ocorrem saltos epistemológicos insuficientemente fundamentados.
Daí, o SCI Galeano sugere (2021, p. 106): “e se o critério de cientificidade consistisse em explicar uma coisa, entendê-la, e então responder à pergunta: “‘por que isto e não outra coisa?’, isso porque, a partir do momento que você escolhe o que vai explicar, a capacidade explicativa já está sendo induzida.” Dessa forma, o pensamento crítico que o zapatismo entende como aquele que goza das potencialidades para explicar a realidade estrutura-se por uma metodologia de elaboração de consecutivas perguntas a partir do alcance de ideias que sistematizem satisfatoriamente a realidade que se estuda, “como se as explicações fossem as plataformas de lançamento para novas explicações” (GALEANO, 2021, p. 99). De forma bem ilustrada, o SCI Galeano explica:
Como zapatistas que somos, nosso primeiro instinto é perguntar. Mas no meio da pergunta escolhemos se o que buscamos são certezas ou mais perguntas. […] e se não fosse assim? […] E se tivessem detectado um fenômeno que contradissesse esse postulado x? O que teriam feito nos centros científicos do mundo? […] Para nós, zapatistas, sua formação científica teria feito com que repensassem suas teorias, aplicando a elas o pensamento crítico […] Um novo limite seria marcado e a ciência teria seguido seu caminho (GALEANO, 2021, p. 97-98).
Os consensos elaborados no segundo dia do encontro L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad iluminam as conclusões debatidas nesta investigação: 1) a falsa “neutralidade” da ciência, pois pode ser usada para dominar e explorar (ciência capitalista) ou para contribuir para a luta pela emancipação e contra o capitalismo (a outra ciência, a ciência zapatista); 2) a necessidade de uma ciência empenhada no bem da humanidade e do planeta; 3) a tarefa de combater as pseudociências e as anticiências; e 4) a importância de promover a produção de conhecimentos científicos dos povos e para os povos.9 Galeano sustenta que para se conhecer um pesquisador, geralmente, busca-se pela vertente teórica com a qual ele se filia, e não necessariamente por
9 Trecho retirado e traduzido do endereço eletrônico “Subversiones: Agencia autónoma de comunicaciones”. Fonte: https://subversiones.org/conciencias. Acesso em: 27 de julho de 2022.
suas contribuições autorais sobre seu assunto de especialidade. Isso corresponde ao enrijecimento dos pensamentos-base das ciências, uma vez que são o sustentáculo de qualquer trabalho científico. Portanto, conferindo hegemonia à configuração que já se exibe no cenário da ciência, entende-se que aquilo que instiga os cientistas a refletirem corresponde a explicações base que potencialmente solapam o invento criativo.
Além disso, o zapatismo observa o medo como vivência inerente ao ofício do cientista. O medo manifesto tanto no cenário institucional burocrático dos prazos, exigências de publicações, subsídios financeiros de estudo, quanto no hermetismo teórico, sustentado na incapacidade do sistema de imaginar alternativas, ou seja, produzindo e reproduzindo um cenário de limitação no desempenho do ofício. Além disso, o SCI Galeano caracteriza o laboratório científico como asséptico, ou seja, severo e implacável à contaminação por microrganismos, sendo que toda essa simbologia possui demonstração material no fazer científico acadêmico dominante, sobretudo do Norte global – mesmo que não em sua totalidade. Isso produz uma consequência facilmente percebida no desenvolvimento das ciências, sobretudo as sociais. A tipificação e generalização são expressões do poder frente ao que não compreende e que, portanto, não incorpora. No entanto, isso se observa em amplas abordagens teóricas que sustentam suas teorias por qualitativos generalizantes. O pós-colonialismo, tentando denunciar a parcialidade das narrativas sob o umbral da ciência dominante, reforça o abuso de qualitativos nessas vertentes, o que põe em questionamento o progressismo efetivo dessa forma de construção teórica. O zapatismo esforça-se sistematicamente na tarefa da descolonização sem, contudo, insistir argumentativamente nas polaridades mobilizadas por essa vertente teórica, empenho que recusa narrativamente qualquer redução à identidade reducionista, para não ser “escravos da escravidão que desumaniza” (FANON, 2008, p. 190).
A outra face que é produzida pela mesma raiz corresponde ao império pós-moderno da “hipercontingência”, quer dizer, “o auge das pseudociências é também uma crise terminal, o eu-comigo-mesmo elevado à categoria científica” (GALEANO, 2021, p. 116). Nota-se que o zapatismo entende a individualidade elevada a critério científico como uma dinâmica desmobilizadora e anticoesão, e isso desperta a atenção para o caráter coletivo da luta zapatista, em que o coletivo é a unidade válida em termos de construção narrativa da verdade. Insistem na ideia de “compartição”, ou seja, que da relação dialética entre indivíduo e coletivo extraem-se as dinâmicas válidas sobre a realidade.
A compartição não sugere a exclusão radical das individualidades de cada zapatista, quer dizer, a finalidade não é a construção de uma unidade zapatista em que a homogeneidade opere. Opondo-se à universalidade da percepção, o zapatismo constrói sua epistemologia. Darling (2020, p. 15) traz um aporte sucinto, elucidativo e poderoso:
La episteme zapatista consiste en un conjunto de saberes que, articulados, fungen como cristales para la construcción de interpretaciones sobre la realidad social. Esta episteme no se restringe a la materialidad de lo real, al mundo de los fáctico, sino que permite pensar más allá de lo que acostumbramos a pensar como interpretación de lo que es, y proyectar lo que podría ser. De ese modo, los conocimientos son dinamizados y enriquecidos colectivamente permitiendo visualizar posibilidades de una realidad que excede los límites del presente.
Todavia, daí provoca a ciência no sentido de que possa se orientar pela epistemologia zapatista, reconhecendo suas interpelações como críticas, para produzir indagações até então dispensadas que demandem metodologias igualmente prescindidas ou talvez nem elaboradas.
A partir disso, aciona-se uma reflexão extremamente interessante e veemente: se a maior parte da história redigiu-se por uma narrativa orientada pelo poder, poder este extremamente limitado pelo “império do Um”, em que numerosos grupos de pessoas extremamente diversas generalizaram-se por uma avalanche de qualitativos genéricos, será que a história contada pela ciência moderna não se sustenta por erros de digitação? Porém, por quê o zapatismo mobiliza essa ideia tão específica de erros de digitação? Sabe-se que a ferramenta do corretor ortográfico automático é extremamente útil no contexto atual. Contudo, se essa ferramenta é extrapolada metaforicamente, o que se pode entender? O corretor automático opera de forma programada para corrigir erros ortográficos de acordo com as normas ortográficas acordadas pelas comunidades científicas. Assim, qualquer deslize à norma é automaticamente corrigido, sendo que os aparatos de celular costumam já vir com essa opção ativada, e desativá-la implica em uma ação manual e intencional, sendo esse simbolismo bastante expressivo. Daí, os zapatistas questionam: e se a história correspondesse, na realidade, aos erros de digitação que foram automaticamente corrigidos pelo umbral científico cartesiano? Quer dizer: e se a história tentou ser escrita autoralmente por diferentes pessoas e o corretor automático da ciência agiu sobre todas essas narrativas? Estaria-se, pois, vivendo a falsificação da história que tentou ser contada?
A partir da percepção de que a forma como se explica os elementos do mundo reforça uma narrativa e, por conseguinte, enrijece o horizonte, pode-se começar a arrancar da realidade formas de narrá-la coerentes às formas variadas de viver no mundo, e daí elaborar as pontes que propagam-se a outros horizontes. Havendo desativado manualmente o corretor ortográfico automático, poder-se-á discorrer autoralmente sobre as diversas vidas, liberados do senso anômalo que necessariamente ancora a todos no império da morte. Darling (2020), tecendo crítica ao poder do Estado aliado à dominação da palavra, sugere que os zapatistas podem ter cristalizado de maneira acabada
a experiência de autonomia conforme conferem-se de direitos a fazer uso da palavra das formas que lhes faz sentido, e, consagradamente, recusando o poder do Estado.
Conclusivamente, o zapatismo critica a ciência moderna, sobretudo as Ciências Sociais, por possibilitar que um excesso de contingência lhe atravesse, e permitir a incidência de exceções demais em suas teorias. No entanto, reconhecem a importância da ciência para explicar a realidade e defendem a necessidade de um pensamento crítico baseado em uma metodologia de elaboração de perguntas. O EZLN observa a genealogia da ciência pela lente da luta de classes e conclui que a guerra é a condição típica do capitalismo, que é um estado permanente de opressão contra a natureza e a humanidade. O conhecimento, não obstante, tem o poder de estabelecer diagnósticos sobre a realidade e, assim, iluminar condutas para superar suas injustiças, sendo por isso que se faz importante desvelar as estruturas do mundo que o EZLN prefigura.
CONCLUSÃO
O conhecimento zapatista, em sua forma, conteúdo e método, com grande ocorrência, destoa do conhecimento que tenta se convencionar como universal, porque não corresponde à forma como o EZLN se relaciona com a realidade. Por isso, estruturam seu relacionamento com o conhecimento de uma forma comprometida com a realidade que se vive e com a que se almeja viver. Essa relação com o conhecimento se estabelece em seus múltiplos níveis, quer dizer, parte de uma estrutura ontológica e cognitiva particular aos sujeitos zapatistas, manifesta-se na maneira a partir da qual percebem a si mesmos, nas dinâmicas que lançam mão quando se relacionam com outros sujeitos e com o entorno e, finalmente, também no seu sistema autônomo de ensino.
1. Além disso, o zapatismo se manifesta com contundência a respeito da ciência moderna. Os zapatistas irão elaborar sua crítica debatendo o excesso de contingência que permeia a elaboração teórica das Ciências Sociais, e percebem que por essa concessão, em que cabem tantas exceções quanto confirmações, a excepcionalidade passa a ser regra para cientificidade. Se há consentimento acerca do estatuto científico de cada e qualquer fenômeno trabalhado nas Ciências Sociais, o zapatismo entende que a regra perfeita, pois, seria constituída unicamente por exceções, o que corresponde à base das pseudociências. Esse cenário ancoraria na base das Ciências Sociais a ideia de diferentes teorias para diferentes realidades.
2. De qualquer forma, já que o zapatismo precisa se debruçar sobre a ciência e suas teorias uma vez que partilham o entendimento sobre a
importância delas para poderem explicar a si próprios, concluem que a função da ciência deveria ser a de dar conta de explicar uma realidade. É nesse sentido que o SCI Galeano sugeriu (2021, p. 106): “e se o critério de cientificidade consistisse em explicar uma coisa, entendê-la, e então responder à pergunta: “por que isto e não outra coisa?” Isso porque a partir do momento que você escolhe o que vai explicar, a capacidade explicativa já está sendo induzida.”
3. Por isso, o pensamento crítico que o zapatismo entende como aquele que goza das potencialidades para explicar a realidade se estrutura por uma metodologia de elaboração de consecutivas perguntas a partir do alcance de ideias que sistematizem satisfatoriamente a realidade que se estuda, “como se as explicações fossem as plataformas de lançamento para novas explicações” (GALEANO, 2021, p. 99).
4. Observando a história da ciência, o EZLN percebe que corresponde ao invento de ferramentas de opressão dos que resistem: a natureza e a humanidade. Logo, a genealogia da ciência também deve ser observada pela lupa da luta de classes. O pensamento crítico precisa, imperativamente, “desvelar as bases materiais que explicam a história da Hidra, mas também que compreenda e explique as contradições que atravessam toda a sua genealogia” (GALEANO, 2021, p. 167). Se a opressão se faz contra natureza e humanidade, o sistema capitalista é um estado permanente de guerra contra tudo. Entretanto, é por isso que o zapatismo conclui que a guerra, condição originária do capitalismo, é também sua condição típica.
REFERÊNCIAS
BASCHET, Jérôme. A experiência zapatista: rebeldia, resistência e autonomia. São Paulo: n-1 edições, 2021.
CASANOVA, Pablo González. Los ‘Caracoles’ zapatistas: redes de resistencia y autonomía. Revista Memoria, México, v. 176, p. 14-19, out. 2003.
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. 2ª edição. São Paulo: Cosaf & Naify, 2011, p.85.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Ubu Editora, 2020. 240 p.
DARLING, Victoria Inés; La episteme zapatista: Otra forma de ver el mundo y hacer política. Revista Brasileira de Ciências Sociais; 35; 104; 5-2020; 1-22.
EZLN. Festival CompARTE por la Humanidad. Disponível em: https://radiozapatista.org/?page_id=16981. Acesso em: 10 abr. 2021.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 194 p.
GALEANO, Subcomandante Insurgente. Contra a Hidra capitalista. São Paulo: n-1 Edições, 2021. 192 p.
HARVEY, David. O novo imperialismo. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005.
MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011.
MOREL, Ana Paula. Por um mundo onde caibam muitos mundos: conexões entre ciências, educação popular e autonomia zapatista. Conexões entre ciências, educação popular e autonomia zapatista. Disponível em:
Leonardo BeLineLLi / PrisciLa deLgado de carvaLho (orgs.) 146
https://conferenciaclacso.org/programa/resumen_ponencia.php?&ponencia=Conf-1-6292-40445&. Acesso em: 04 jan. 2023.
MEHL, Larissa. ¡Fue el Estado!: o caso Ayotzinapa como símbolo da luta entre jovens e o estado sistêmico na América Latina. 2016. Disponível em: http://178.62.201.127/sites/default/files/articles/fue_el_estado_o_caso_ ayotzinapa_como_simbolo_da_luta_entre_jovens_e_o_estado_sistemico_na_america_latina.pdf. Acesso em: 09 out. 2021.
OAS. Ayotzinapa. 2020. Disponível em: https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/104. asp>/. Acesso em: 27 jul. 2022.
SANTOS, Alejandro. La necesidad de seguir hablando de Ayotzinapa. 2022. Disponível em: https://elpais. com/mexico/2022-04-17/la-necesidad-de-seguir-hablando-de-ayotzinapa.html#:~:text=%E2%80%9D%2C%20 apunta%20Zer%C3%B3n.-,La%20desaparici%C3%B3n,ind%C3%ADgenas%E2%80%94%20tomaron%20 cinco%20autobuses%20privados. Acesso em: 27 jul. 2022.
SUBVERSIONES. L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad. 2010-2018. Disponível em: https:// subversiones.org/conciencias. Acesso em: 27 jul. 2022.
caPítulo 8
reProdução da agricultura FaMiliar e Migração de jovenS ruraiS na região oeSte de Santa catarina1
1 Rodrigo Kummer
INTRODUÇÃO
Este artigo aborda os processos de reprodução da agricultura familiar e de migração de jovens rurais na região Oeste catarinense. Nessa dinâmica ocorre uma ruptura social em relação a um conjunto de expectativas desenvolvidas em torno da sucessão geracional na atividade agropecuária e no modo de vida rural. Essa conjuntura é fortemente informada e influenciada pelo processo histórico de ocupação oficial do território e o desenvolvimento das atividades rurais.
O objetivo da análise centra-se na interpretação do comportamento tendencial dos jovens rurais frente a uma condição decisória que é informada por uma cultura local e pelas perspectivas representacionais com as quais precisam lidar. Se até a década de 1980 a dinâmica de reprodução das atividades agropecuárias era uma constante, agora há uma tendência à migração. Esse movimento não exclui a permanência, mas a ressignifica e aponta uma percepção associada as representações sociais.
Metodologicamente, trata-se de uma análise bibliográfica que aborda: (i) a reprodução da agricultura familiar na região e os processos sucessórios que envolvem os jovens rurais; (ii) a dinâmica de comportamento tendencial dos jovens rurais. Essa discussão bibliográfica é permeada pelas impressões de pes-
1 O presente estudo é parte da tese de doutorado: “Juventudes rurais e permanências: ruralidades e urbanidades representadas no Extremo Oeste de Santa Catarina”, defendida em 2019 no Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade – CPDA, junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, sob a orientação da professora Dra. Eli de Fátima Napoleão de Lima (in memoriam).
quisas realizadas por Kummer (2013 e 2019), ainda que de forma efetiva não sejam apresentados dados específicos.
Os estudos sobre juventude, ou estudos sobre jovens, ocupam um espaço significativo na pesquisa brasileira. Entretanto, não abarcam de maneira efetiva toda a complexidade da realidade a que essa categoria está relacionada. No caso das pesquisas sobre juventude rural, há uma situação paradoxal. Percebe-se, por um lado, uma carência nos estudos, ou mais precisamente uma “carência de publicações e de espaços acadêmicos que abriguem essa temática” (CARNEIRO; CASTRO, 2007, p. 13).
Por outro, existe a percepção de que essa temática atravessa um “momento favorável, não só emergente, mas em fase de consolidação” (SPOSITO, 2007, p. 123). Castro aponta que “a juventude está na ordem do dia, ainda que não seja um tema tão privilegiado em termos de recursos para pesquisa”, uma vez que a juventude “nunca foi um tema privilegiado nem mesmo dentro do campo de debate sobre a questão agrária”, embora essa conjuntura esteja em franca mudança (2007, p. 128).
Outros pensadores reafirmam que se vive um período em que são “numerosos” os trabalhos sobre jovens do meio rural (WANDERLEY, 2007), pontuando ainda que “todos eles tentam, com abordagens distintas, responder a questões fundamentais, tais como, quem são, onde vivem, como vivem, o que pensam e como projetam o futuro” (p. 31). Esses aspectos caracterizam o que se entende por um leque ampliado de pesquisas, haja vista que não há uma única juventude rural, um único modelo de jovem rural. São atores sociais que se diferenciam, mesmo agregando características, modos e pertencimentos identitários correlatos.
Essa discussão evidencia a impossibilidade de um tratamento metateórico da juventude rural. As preposições de análise são pontuais e tratam de questões especificas. Como afirma Weisheimer, são dois os aspectos que chamam a atenção dos pesquisadores: “a participação dos jovens nas dinâmicas migratórias e a persistência da invisibilidade social dessa juventude.” (WEISHEIMER, 2005, p. 7).
A migração e a permanência de jovens rurais são uma preocupação recorrente entre os atores sociais da região Oeste catarinense, dado a significativa presença da agricultura familiar no conjunto representacional local. As representações sociais, portanto, são acionadas como perspectiva de ampliar uma conjuntura de explicação que está comumente articulada em vetores de acesso à terra, trabalho e renda. Esses aspectos são centrais nessas questões. Aqui se está propondo um olhar que tenta iluminar critérios decisórios que extrapolam distinções dicotômicas.
A pesquisa mais ampla que subsidia este texto evidenciou que entre os jovens rurais da região Oeste de Santa Catarina há um conjunto de representações sociais que associam e significam o meio rural como espaço positivo.
Porém, essa percepção não é suficiente para gerar permanência efetiva, ocorrendo uma tendência de migração (KUMMER, 2019).
A análise, portanto, está perpassada pela noção de representações sociais. Segundo o pensador romeno Serge Moscovici, “as representações constituem, para nós, um tipo de realidade” (2015, p. 36). Dito de outra forma, as representações sociais são um mecanismo no e pelo qual os seres humanos buscam interpretar e recriar a realidade imediata. Assim, ao discutir a permanência de jovens no meio rural, sobrevive a dúvida sobre a forma como os jovens interpretam e recriam a sua realidade íntima e cotidiana. Desse processo interessa, objetivamente, a forma como representam a ruralidade e a urbanidade, por serem as variáveis conceituais mais importantes no decurso de suas experiências decisórias.
As representações sociais devem ser vistas como uma maneira especifica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa. Elas sempre possuem duas faces, que são interdependentes, como duas faces de uma folha de papel: a face icônica e a face simbólica. Nós sabemos que: representação = imagem/significação; em outras palavras, a representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. (MOSCOVICI, 2015, p. 46).
A produção das representações sociais, segundo Moscovici, serve basicamente para clarear e recodificar uma dada realidade. Mais especificamente ele diz que “a finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade” (2015, p. 54). Logo, pode-se afirmar que as representações são uma forma de definir “sentidos”, visto que se relacionam diretamente com o ambiente do senso comum. A ciência, nesse sentido, faz o contrário, cujo objetivo “é tomar o familiar não-familiar em suas equações matemáticas, como em seus laboratórios” (2015, p. 59).
Considerando esses vetores analíticos, o artigo está organizado em duas partes. Na primeira, discutem-se os elementos de colonização e as dinâmicas de reprodução da agricultura familiar na região Oeste de Santa Catarina. Na segunda, aborda-se o processo tendencial de ruptura e migração dos jovens rurais em meio as possibilidades negociadas de permanência.
REPRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO OESTE DE SANTA CATARINA
A história do Oeste de Santa Catarina é, em geral, referenciada “a partir” da colonização oficial iniciada em 1917 (SILVA, 2010). Esse processo, em
síntese, significa o evento de ocupação oficial do território por grupos sociais especificamente eleitos pelos interesses estatais. Esses grupos são os colonos, tipificadamente agricultores de origem europeia. Sobrepõe-se uma categoria étnica e um modo de vida específicos como promotores da identidade regional, depreciando a temporalidade anterior e a presença indígena e cabocla.
A migração e, em menor escala, a imigração foram expressões fundamentais desse processo de ocupação. Ignorando a presença das populações originais e anteriores, a dinâmica de efetivação desse movimento contou com uma imagem de valorização dos colonos. O imaginário e a propaganda teceram uma representação de “milagre migratório”. Com a chegada dos novos atores sociais, a região encontraria sua “vocação” de riquezas. Como aponta José Carlos Radin (2009), o migrante suscita uma identidade discursiva entre os diferentes colonos. A igualdade enquanto grupo é tomada em relação a sua distinção frente aos “nacionais”.
O uso da categoria migrante se refere em especial aos descendentes de italianos, alemães e poloneses, majoritariamente os colonizadores da região. Como o termo é usado de forma genérica, inclui os imigrantes, apesar de o número não ser significativo. Entende-se que não formaram um grupo uniforme, assim como não o formavam os diferentes grupos étnicos. A categoria se relaciona aos qualificativos que lhe eram atribuídos e que se auto atribuíam de bons trabalhadores, progressistas, ordeiros, ideais para a colonização. (RADIN, 2009, p. 24).
Os colonos personificam qualidades tidas como inatas, tais como o pioneirismo, a energia, a força e a persistência. São vistos, por eles mesmos, como desbravadores incontestes. Porém, conforme Silva (2010), era definido como “pioneiro” o colono que prosperava. Aqueles que acabavam empobrecendo ou não promoviam grandes avanços particulares em suas condições passavam a ser associados como colonos pobres, colonos fracos ou colonos “acaboclados”. Essa diferenciação dependia do que Radin chama de “olhar do grupo2” (2009, p. 22). Nesse sentido, os colonos conjugavam-se de maneira aquinhoada em relação à opinião pública. Da mesma forma, corrobora Roger Chartier, para quem “[...] as representações do mundo social são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza” (CHARTIER, 1990, p. 16-17).
2 “Na colonização de Cruzeiro, essas representações são percebidas quando se refere ao espaço e aos grupos indígenas e caboclos, identificados com a violência, com a terra sem lei, com o abandono, com a preguiça, enfim, com tudo o que representava a incivilidade. Por isso, colocava-se a necessidade de superar esse modo de ser e de trabalhar, pois não interessava aos governantes, nem às elites, por não se inserir na perspectiva do progresso e de civilização almejados” (RADIN, 2009, p. 18).
As representações sociais subjacentes do processo de colonização se expressam pela noção de um espaço vazio antes da chegada dos colonizadores; que os colonos são os obreiros do progresso material e civilizacional da região; a região existe pela intervenção criadora e benevolente dos colonos que venceram a natureza inóspita; a migração dos colonos é marcada por esforço e sofrimento, o que a valoriza ainda mais como experiência histórica e social; os indígenas e caboclos são invisibilizados ou negados como agentes históricos, entes culturais ou figuras jurídicas; o trabalho familiar e a fé religiosa proporcionaram a vitória civilizacional; a resignação com as dificuldades, agruras e provações faz dos colonos as figuras fortes do lugar. Essas representações e imaginários explicam e dão base para o discurso de segregação étnica e estabelecem as variáveis comportamentais das novas gerações, principalmente os jovens.
Para compreender esse processo, convém considerar a dinâmica econômica que consubstancia o espaço regional e que leva à urbanização. Do ponto de vista estrutural, a compreensão da organização socioeconômica da região pode ser analisada pelos ciclos econômicos. O primeiro foi o do tropeirismo, o segundo da erva-mate, seguido da madeira, culminando com a da agroindústria. Os núcleos coloniais eram erigidos numa perspectiva que representava o desejo e os anseios de ver-se prosperar até tornar-se cidade. Essa compreensão é tão forte na região que muitas comunidades rurais esboçaram projetos de emancipação e em algumas delas a vontade ainda é manifesta3. Essa noção levanta uma questão importante no imaginário regional: constrói-se um ambiente sociocultural baseado na atividade agropecuária e que se quer urbanizado no sentido de um triunfo existencial. A cidade é o epiteto do progresso. Fazê-la emergir do rural é um embate que louva seus combatentes, talvez como fronteira última a ser vencida. A representação, portanto, de uma urbanidade e ruralidade historicamente situadas é primordial para sustentar o modo de ser do lugar.
Aí se sustenta a variação entre rural e urbano no Oeste catarinense, isto é, nas suas representações e não nas evidências técnicas e estruturais. Os municípios da região, sem exceção, surgiram a partir de comunidades e vilas rurais. Algumas dessas vilas foram projetadas como futuras cidades, já indicando traçado de ruas, reservando lotes para equipamentos públicos, referenciando atividades econômicas. Nem sempre essas projeções frutificaram ou, por outro lado, o que florescera viera dessas projeções. Tornar-se município seria uma vitória ante o atraso, a selvageria. O núcleo urbano poderia simbolizar a civilização.
3 É didático o caso da comunidade rural de Novo Cerro Azul, município de Palma Sola/SC. Essa comunidade manteve e mantém o imaginário de emancipação e urbanização como um fator de sentido e progresso social (KUMMER, 2015).
Em 1946, num anúncio de lotes de terra à venda, a empresa Barth/Annoni indicava que não havia formigas nas terras da região (SILVA, 2010). A representação é, portanto, de natureza já domesticada, donde os maiores males e perigos já tinham sido minorados, isto é, o triunfo da cultura sobre a selvageria estava encaminhado. Além disso, as vilas e núcleos coloniais nascentes eram expressos por um otimismo de crescimento que ia além da simples propaganda colonizadora. Eram formatados num projeto de desenvolvimento intenso, no qual os colonos eram atores de interesse. Os demais grupos eram distanciados.
Conforme Silva (2010), a imagem e os discursos produzidos na região buscavam estabelecer um limite entre rural e o urbano. Os moradores, no entanto, permeavam a suposta existência urbana (desejada) com atividades agropecuárias. Era comum o plantio de cereais, tubérculos, legumes, frutas e a criação de porcos, galinhas, cabritos, bezerros e até cavalos nos espaços vagos entre as habitações ou em terrenos baldios. Esse movimento de migração campo cidade estava ligado ao empobrecimento dos camponeses e criava uma nova relação, muitas vezes de empobrecimento urbano.
É importante salientar que os colonos que haviam migrado do estado do Rio Grande do Sul eram, em sua grande maioria, descendentes de imigrantes europeus e estavam inseridos numa economia basicamente agrícola. Tinham como objetivo a melhoria da condição de vida, o progresso e a acumulação de riquezas através da produção de venda e consumo e da aquisição de áreas agricultáveis.
Enquanto artifício de desenvolvimento das estruturas do espaço regional, pode-se dizer que esse movimento colonial garantia a sua continuidade, pautando-se em critérios específicos de reprodução das unidades familiares de produção agrícola. Buscava-se “colocar os filhos”, isto é, permitir que estes se estabelecessem na atividade agrícola, assim como seus pais. Para tanto, era necessário ter acesso à terra e garantir o desenvolvimento das novas estruturas econômicas, o que não era tarefa simples, uma vez que a acumulação de riqueza dentro do grupo familiar de trabalho nem sempre permitia a compra de novas terras e o alojamento das novas famílias desmembradas do núcleo original.
A disposição da propriedade, como um bem a ser adquirido, obrigava as famílias a gerar excedentes para que pudessem atender aos filhos que viessem a se emancipar da unidade familiar. Na essência, esse processo interferiu na organização da propriedade familiar, de tal sorte que a produção de bens para o mercado foi ocupando, cada vez mais, lugar de destaque (SCHALLENBERGER, 2009, p. 148).
É importante perceber como os filhos eram socializados ao trabalho agrícola desde muito cedo. Era muito comum que as mães levassem seus bebês à lavoura, deixando-os em cestos ou na carroça, protegidos pela sombra e pela guarda de cães, enquanto trabalhavam. De tempos em tempos acudiam e
e
153 amamentavam os rebentos. É comum ouvir relatos sobre bebês levados à roça com um ou dois anos de idade4.
A partir daí, as crianças estabeleciam contato com a terra e com o ambiente simbólico da agricultura. Com quatro ou cinco anos eram preparadas ferramentas especiais a elas, como pequenas enxadas, foices, cestinhos, entre outros. Se o objetivo, geralmente, não era o de obter a contribuição física do trabalho das crianças, era de iniciá-los no mundo rural. De acordo com Petrone, “as crianças desde cedo eram recrutadas para as mais variadas tarefas na roça, junto aos animais ou na casa. Famílias com muitos filhos em idade de trabalhar tinham mais perspectivas de prosperar” (PETRONE, 1984, p. 60).
Conforme cresciam, as crianças ganhavam maiores responsabilidades e incentivos. Por volta dos 15 anos de idade, muitos pais “davam” um pedaço de terra para o filho plantar separadamente, isto é, permitiam que ele fizesse, em horários de “folga”, a sua própria roça, que ele poderia vender e guardar o dinheiro para si. Essa era uma maneira de incentivar os filhos a permanecerem na roça e mesmo permitir que aprendesse pouco a pouco a “gestão” da lavoura. Às vezes a renda obtida com a sua “rocinha” era irrisória ou nula, tornando-se uma oportunidade para que os pais replicassem o discurso da necessária “unidade” do trabalho familiar, da importância que tinha a terra, das carências financeiras e os cuidados manifestos para superá-la.
Essas interlocuções dão conta da existência da formação de um “espírito de colonização”, no qual o espaço familiar era povoado por regras e valores tidos como imprescindíveis para a eficiência dos projetos futuros do grupo, como destaca Renk.
No rol das representações, a família é o espaço privilegiado para a socialização de seus membros e a inculcação de valores, atitudes e condutas entre estas as econômicas. Assim, sempre “foram ensinados e aprenderam” a gastar o mínimo possível, a viver com parcimônia, a ter reservas para o futuro, “a pensar no dia de amanhã”. Nas descrições do cotidiano é recorrente a ênfase na alimentação frugal. Nos primeiros tempos, os mais apertados, tinham uma alimentação pouco variada; depois, com maior variação, sem nunca esbanjar. (RENK, 2006, p. 89).
Como aponta Karine Simoni (2003), as reminiscências históricas e memoriais reforçam um imaginário de que a imigração e a posterior migração (sobretudo dos italianos e seus descendentes) no Sul do Brasil expressam um
4 Esse é um processo de socialização que foi fortemente influenciado pelas dinâmicas de modernização agropecuária a partir da década de 1960. No entanto, os elementos de inserção das crianças nas atividades ainda são percebidos. Trata-se de um modus operandi que exerce influência direta nas práticas sociais de todos os membros do grupo familiar em relação ao modo de vida rural.
conjunto de representações ainda presente no cotidiano dessas populações. A primeira representação é que o progresso seria conquistado com trabalho ininterrupto, sofrível e perseverante. A segunda é que os valores quase ascéticos das famílias indicariam uma bússola moral para dias melhores. Por fim, a memória indica sofrimento no percurso egresso, mas que foi um período de superação e de solidificação moral.
Esse conjunto de discursos históricos ainda influencia os jovens da região que se associam ou são coagidos a reconhecerem esse pretenso passado de “lutas e glórias”. Como parte dele, são chamados a reproduzirem um caminho tido como vocacional. Seja no campo ou na cidade, o progresso material é condição para o sucesso de toda família. É um aspecto moral tão forte quanto a religiosidade e o reforço étnico (KUMMER, 2019).
O trabalho, como valor, é também uma identidade familiar, coletiva. As coisas são feitas “juntas” e cada um tem uma parcela para cumprir, com uma divisão etária e sexual (SIMONI, 2003). Essas especificidades são relativizadas nos momentos de maior demanda e se modificam, sobretudo, em relação aos papéis femininos. Quer dizer, nos momentos de necessidade, as mulheres desenvolviam toda e qualquer atividade. Os homens não mudariam sua conduta, visto que trabalhos domésticos afetariam sua masculinidade. Se acaso o fizessem, seria em sigilo.
Portanto, todos os esforços, no sentido de prover de forma efetiva os novos membros do grupo, dentro da perspectiva de se tornarem também “novos agricultores”, dependiam da relação que a família tinha com os valores materiais acumulados pelo grupo. Esses valores seriam colocados à disposição dos seus membros de forma escalonada e fragmentada através do tempo.
Woortmann (1995) usa a terminologia – que também se pode verificar no campo – que separa os colonos melhor sucedidos como “colonos fortes”, isto é, aqueles com quantidade significativa de terra e com capacidade de “colocar os filhos” e inserir-se em níveis mais confortáveis no mercado de consumo. Os colonos menos desenvolvidos economicamente são referidos como “colonos fracos”, aqueles que convivem com dificuldades econômicas, ainda que possam dispor de um nível razoável de vida.
Constata-se a existência de um modelo de manutenção e continuidade sucessional dos filhos, vinculada à solidariedade de toda família em torno da constituição das novas propriedades, conforme constata Abramovay et al. (1998). De acordo com o autor, havia na região Sul do Brasil um quadro de perpetuação da atividade agrícola, garantida pelo envolvimento do núcleo familiar original na consecução dos novos núcleos agrícolas.
Entre os colonos existia o sentimento de responsabilidade em reproduzir o espaço de vivência colonial entre os membros da família, ou “garantir o futuro”, “colocar os filhos”. Como elucida Renk (2006, p. 79), isso significava
assegurar que os descendentes tivessem uma terra para trabalharem quando se casassem, principalmente os filhos do sexo masculino. A terra, como já foi dito, era então o elemento primordial para a consecução desse projeto.
Quando não era possível adquirir um novo lote, a família tendia a manter os filhos recém-casados junto à unidade produtiva, seja inserindo-os nas atividades produtivas da casa ou agindo como fiduciária para o arrendamento de um lote adjacente ou próximo. O casal podia morar junto, na casa dos pais, ou ainda construir um rancho próximo da casa, ao que se chamava “morar encostado”. Essa situação podia ser provisória, mas, dadas as dificuldades financeiras da família, tornava-se, em alguns casos, permanente.
Essa dinâmica de reprodução da agricultura familiar no sul do país, como assinala Abramovay et al. (1998), se manteve até finais da década de 1960. De acordo com Woortmann (1995), era comum que o processo sucessional da unidade familiar e os sistemas de herança seguissem as seguintes possibilidades: a primogenitura (o filho mais velho é o herdeiro); a “ultimogenitura” (o filho mais novo é o herdeiro), sendo que poderiam ocorrer a unigenitura (a indivisão da propriedade) ou a partilha igualitária (onde todos receberiam uma parte correspondente à propriedade ou um valor monetário relativo a ela). Entende-se ainda que o modelo de reprodução manifesto até a década de 1970 era comumente o minorato, isto é, “a propriedade paterna é transmitida ao filho mais novo que, em contrapartida, fica com a responsabilidade de cuidar dos pais durante a velhice” (SILVESTRO et al., 2001, p. 65).
A partir da década de 1970, há um rearranjo sistemático do modelo de desenvolvimento agrícola, tendo sido incorporado à agricultura o processo de modernização e de assimilação da chamada Revolução Verde. Esse novo arranjo organizacional levou em conta a utilização dos insumos, de defensivos agrícolas, de novas ferramentas e máquinas e de novas técnicas de produção, alterando a sistemática de trabalho. Modificou-se, também, o destino da sua produção que, até então, centrava-se no próprio consumo, sendo vendida apenas uma parcela do excedente, a fim de se obter acesso aos bens não produzidos na própria propriedade. Conforme assinala Queiroz (1973, p. 30), “desde que o destino da produção se modifique, isto é, desde que o lavrador se disponha a plantar para vender, sua organização de trabalho também se modifica, pois deve alcançar uma quantidade muitíssimo maior do produto colhido”. Na região Oeste, o processo de modernização da agricultura esteve intimamente ligado à industrialização dos produtos agrícolas. Segundo Paim (2006), na década de 1970, concentrada na cidade de Chapecó/SC, expandiu-se a cadeia produtiva de aves e suínos no sistema de parceria, ou melhor, de integração produtiva. As empresas frigoríficas passaram a comandar o processo de produção de sua matéria-prima enviando aos agricultores os animais, a alimentação e definindo e controlando rigidamente os tratos culturais necessários.
Como encadeamento desse processo, a produção de cereais, como milho e soja, necessários a produção da ração, também se expandiram. Essa expansão ensejou, por seu turno, a mecanização, o uso de melhoria genética de sementes, de insumos e de defensivos agrícolas. A modernização da agricultura no Oeste catarinense foi, portanto, cíclica e totalizante.
Se, por um lado, com o novo modelo alcançavam-se maiores níveis de produtividade e produção absoluta, por outro, os custos desta também aumentam na mesma proporção, e o residual de valor monetário obtido com a atividade diminuía. Além disso, como insinua Wolf (1976), o agricultor é impelido a fazer investimentos sistemáticos em sua propriedade para se adaptar às exigências de mercado, de modo que precisa recorrer a sucessivos financiamentos e acesso a crédito, colocando-o numa situação de submissão em termos relativos à autonomia que gozava num período anterior a essas modificações.
Com os novos arranjos técnicos da agricultura, o índice de pessoal necessário à atividade passou a ser menor. George afirma que “a modernização da agricultura tem, com efeito essencial, a redução do tempo de trabalho exigido para obter a renda bruta do estabelecimento agrícola” (GEORGE, 1982, p. 237). Mesmo que o pacote tecnológico permita ascender a melhores níveis de produtividade, ele dispensa o envolvimento de alguns membros do grupo familiar, uma vez que na região não há mais terras a serem ocupadas para estender essa produção, forçando esses membros excedentes a saírem do campo.
O modelo de sucessão baseado na “pressão moral” deixa de configurar uma tendência efetiva. De acordo com Abramovay et al. (1998), é possível afirmar que a transformação agrícola, em curso a partir da década de 1970, fez com que em finais da década de 1980 e início da década de 1990 o padrão esperado não é mais a permanência dos novos membros no campo, mas a sua saída rumo a atividades urbanas.
Essas novas relações estatuídas no campo levam a crer que há uma mudança significativa em curso. Compreender que houve uma ruptura no processo de reprodução do colonato/agricultura familiar na região Sul do Brasil e, dessa forma, na região Oeste de Santa Catarina, parece evidente. Contudo, conforme Wolf (1976, p. 10), “a persistência, como a mudança, não é uma causa, é um efeito”. Portanto, cabe analisar essa tendência a que segue o processo da manutenção ou desestabilização da agricultura familiar na região estudada exatamente no que tange aos novos atores desse processo, isto é, os jovens do meio rural.
Que os jovens rurais são fortemente influenciados por esse conjunto moral de expectativas e de cobranças não há dúvidas. Todavia, considerar que eles serão meramente reprodutores desse processo é uma análise apressada. Pode-se apontar que muitos deles acabem rompendo com esse ciclo e que outros tenham esse ciclo suprimido pela própria influência dos pais. Não se trata de
eliminar a perspectiva de progresso material, mas de reconduzi-lo para fora do ambiente rural.
A MIGRAÇÃO DOS JOVENS RURAIS COMO RUPTURA SOCIAL
Ao tratar de juventudes rurais, há uma polissemia de temas e abordagens como a própria categoria analítica plural o indica. Essas variações e diversidades são também fruto das categorizações entre rural e urbano, que sustentaram as nomenclaturas de atores de um chamado “mundo rural”. Nesse mundo de múltiplas faces, a juventude tem aglutinado olhares perspicazes nos últimos anos. Por que os jovens do rural passam a configurar um arcabouço privilegiado de pesquisas?
Porque formam uma massa diversa de projetos de vida vinculados a multiplicidades de espaços e tecidos sociais, estão vinculados não só a um novo rural, mas produzem novas percepções sobre o rural e sobre o urbano, rompendo, talvez, com essa engessada classificação dicotômica. Eles formam um grupo que contradiz expectativas, tais como a do fim do rural, mas questionam um rural geracionalmente datado, tido como antiquado, atrasado. São os novos agricultores e vão além dessa atividade, pluriativos e conectados que estão. Nessa acepção estão vinculados às dinâmicas de produção de alimentos, uma das mais importantes atividades a que está inserida à multifuncional agricultura familiar (CAZELLA et al., 2009).
Há, nesse processo, uma configuração de estudos que indicam dois caminhos preponderantemente palmilhados pelos pesquisadores: um é o pressuposto da saída (ruptura)5 dos jovens do meio rural, vinculados principalmente a questão da sucessão; outro é o da permanência dos jovens no meio rural, tema que está associado a uma variedade mais complexa de questões. Embora esteja ligado à sucessão, está espraiado por inferências mais complexas por se tratar de um comportamento não tendencial. Essa variação das bases decisórias pode estar associada a uma construção de sentidos, significados e representações mais complexificadas e polissêmicas.
O termo “ruptura” não expressa uma completa desvinculação, ou mesmo uma anulação de relações. Sua acepção, porém, indica uma transformação mais efetiva no sentido dos elos afetivos que se estabelecem no processo de identificação entre a realidade de trabalho e de vida. A terra representa elementos
5 A noção de ruptura pode expressar melhor a questão da saída dos jovens do meio rural, haja vista que não se trata apenas de sair de um espaço para outro. Significa uma transformação no projeto de vida estabelecido por ligações que ultrapassam uma atividade de trabalho e renda, mas que abarcam um modo de vida, em geral, consubstanciado por relações de sentimento afetivo.
de simbolismo em um mundo circunscrito em grande medida à família e à comunidade. Há, na prática, uma tendência a essa ruptura. Capitaneada principalmente a partir da década de 1970, vê-se corrente e crescente até o início da década de 2000. Entre 2000 e 2010, o ritmo da migração de jovens demonstrou desaceleração e indicou uma maior permanência dos jovens na atividade rural (VALADARES et al., 2016).
Conforme apontam Valadares et al. (2016), a temática da juventude tem assumido papel cada vez mais relevante no sentido da discussão dos processos de permanência. Essa dinâmica de discussão vai na contramão dos estudos que se avolumam em relação aos processos de saída dos jovens do meio rural. Essa constatação é referenciada também nas pesquisas de Elisa Guaraná de Castro (2005; 2009), que tornou claro o deslocamento epistemológico entre os que ficam e os que saem, e complexificou uma conjuntura que geralmente é tratada como uma dicotomia rural-urbana. Os jovens que ficam ou os jovens que saem são atores sociais motivados por uma miríade de elementos e situações que tangenciam tanto elementos estruturais objetivos, quanto elementos simbólicos e subjetivos.
A perspectiva da saída dos jovens do meio rural engendra uma relação de ruptura. Quando se trata do mundo rural, é imperativo considerar sua característica de lugar de vida para além de um local de ocupação e de trabalho. Se essa questão é inescapável, a perspectiva de permanência e de saída são mais complexas que uma simples mudança de vinculação trabalhista. O próprio termo “mundo rural” passa a agrupar um conjunto diverso de variáveis que se articulam afetivamente. Nessa lógica, deixar o rural significa romper com laços de identidade que substanciam expectativas sociais e de projetos de vida. Essa ruptura, claro, não é uma acepção ou uma desvinculação completa. Ela ocorre porque se torna imperativo assumir novos papéis e posições sociais a partir da alteração entre a realidade rural e urbana. A ruptura pontua um momento difícil de tomada de posição em relação a vida dos jovens.
Ao complexificar a saída, para além de um novo emprego, também é palpável a necessidade de analisar com maior profundidade a permanência. Ela é uma decisão tão complexa quanto a ruptura. Há uma interpretação dual que considera a saída como opção dos mais aptos e a permanência como uma escolha forçada pela falta de perspicácia para romper com o rural e as possíveis dificuldades de vinculação com o meio urbano.
Essa visão reforça a imagem do rural como lugar inferior, de dificuldade, espaço onde só permanecem os brutos, os pouco sagazes e matutos. Essas interpretações e visões, senão totalizantes, são preponderantes e configuram uma noção geral de depreciação. Se é uma produção do imaginário, logo, os efeitos e posicionamentos dos atores são também subjetivos e tecidos numa complexa rede de sentimentos e definições.
Existe, certamente, uma tendência de urbanização que realoca populações rurais por meio da migração. O Brasil passa, inexoravelmente, por um processo de urbanização, fruto ainda da expansão de áreas econômicas desvinculadas do setor primário. Além disso, o agronegócio desaloja parcelas significativas da população rural, seja por meio da modernização tecnológica, seja pela coação em direção às áreas de campesinato historicamente constituídas. Essa migração, contudo, não significa em todos os casos uma mudança positiva nos projetos de vida dos atores sociais. É possível tratar de uma tendência como parte de uma explicação, mas ela por si só não constitui a compreensão tácita sobre os fenômenos sociais. Isto é, apontar a migração rural-urbana como uma tendência não exime o analista de entender como e porque essa tendência opera, além de indicar os processos de variação que o compõem.
O êxodo rural é, em parte, explicado não como uma oportunidade qualificada no meio urbano, o que colocaria a saída como opção prestigiada. É, em muitos casos, uma fatalidade, fruto da ausência do Estado ou da ação perniciosa ou deficitária do mercado. A imagem negativa do rural é reforçada pela inexistência de serviços e constitui uma agenda de depreciação que retroalimenta sua fragilização. No entanto, a fragilização não é sinônimo de depreciação por parte das pessoas que o constituem.
Vê-se que, no caso em estudo, historicamente a migração de jovens obedece aos processos de liberação de mão de obra em finais da década de 1970. No entanto, atinge diretamente as famílias que acessam imediatamente os pacotes tecnológicos. Várias famílias mantiveram sua dinâmica de reprodução até o final da década de 1980, considerando aí o marco efetivo para a derrocada das atividades de subsistência como aparato de sustentação de famílias adensadas. Em meados da década de 1990, ocorre um pico de êxodo rural familiar, isto é, o abandono da atividade rural pelo grupo familiar como um todo. Suas propriedades foram incorporadas por unidades mais aquinhoadas ou serviram para alocação de novos agricultores, nomeadamente jovens oriundos de famílias em melhores condições financeiras.
Num exemplo geracional da organização colonial, é possível definir a primeira geração de colonos como migrantes; a segunda geração como agricultores fixos; a terceira geração é entendida como de novos migrantes. Estes últimos fazem a migração rural-urbana e não mais rural-rural. Há uma dupla representação da migração do rural para o urbano. Uma delas é associada como um processo que envolve o aumento da pobreza. Noutra, ao contrário, é oportunidade de aumento da riqueza. Contudo, essas percepções são produzidas pela literatura ou como elementos discursivos sociais? É difícil definir que os migrantes melhoram ou pioram sua condição.
Provavelmente, em relação aos critérios objetivos, há melhorias. No entanto, no sentido da qualidade de vida, talvez outras variáveis possam ser
discutidas. Em algum sentido, as “fugas” do ambiente rural expressam uma exclusão social recorrente, seja econômica, seja pela condição geracional, de gênero, etc. Exemplo dado por Renk (1999) é a quantidade significativa de jovens rurais que se tornam professores. A docência se torna uma opção financeira viável, dado o menor custo que a formação impõe.
É premente compreender quem migra e quem fica. Em geral, migram jovens de variadas condições sociais, tanto os que possuem restrições econômicas quanto aqueles que possuem pujança de renda. Se há essa variação, a tese das representações faz mais sentido e desloca os chamados “critérios objetivos da tomada de decisão”. Para alguns, é a falta de condições, para outros, pode significar libertação.
Exemplo paradigmático é o da migração para prestação de serviços gastronômicos no Sudeste do país. Muitos jovens migraram para trabalhar em churrascarias de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente no período de 1995-2005. Havia, como aponta Renk (1999), uma reserva de mercado nesses estabelecimentos para jovens do Sul. Seriam os funcionários ideias, já que não manifestavam contrariedade em relação às longas jornadas e mantinham um comportamento de submissão, como corpos docilizados (FOUCAULT, 1999). Essa percepção pode ser aproximada mais como uma variação da autoexploração, indicada por Chayanov (1974), em relação à mentalidade camponesa.
O processo de decalagem de muitos jovens em relação ao mundo rural está associado a muitos fatores. A renda é o principal argumento acionado, embora não explique por si só essa assincronia. Os ultimogênitos, porém, recebem o peso da perspectiva da permanência como um dever moral. É o aspecto da permanência analisada como oportunidade geracional, mas também como fatalidade. Quando não há sucessão negociada, a tendência é que as famílias, nesse caso representadas pelos pais já idosos, abandonem o campo para se aproximarem dos filhos no meio urbano. A aposentadoria significa, prioritariamente para as mulheres, uma libertação.
De acordo com Valadares et al. (2016), os dados do censo de 2010 indicam que ocorreu um aumento no percentual de permanência no campo. A explicação desse processo vem das melhorias gerais que se desenrolaram no meio rural, além das políticas públicas que atenderam demandas especificamente do público jovem. Essas políticas são fruto da mobilização e da organização da juventude e da juventude rural como categorias sociais e políticas. A expressão mais palpável dessas políticas se revela na melhoria dos níveis de consumo alcançados palas populações rurais, principalmente em relação a serviços básicos.
Aparentemente, a organização e a ampliação do acesso a políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para a promoção da cidadania conseguiram desacelerar em alguma medida a saída de jovens do campo. Ou seja, mesmo em um cenário ainda bastante hostil à agricultura familiar, uma hipótese pertinente
saBeres, sujeitos e PoLíticas 161
para explicar o aumento da permanência diz respeito às “pequenas” conquistas dessa população, que contaram ao longo dos anos 2000 com um incremento considerável da renda, com notável reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo veículos automotores; melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação significativa do acesso à energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação do acesso e da importância das políticas sociais, em especial as transferências de renda e a previdência social, que tem seu piso atrelado ao salário mínimo; crescimento do acesso a políticas produtivas, tais como reforma agrária, crédito, assistência técnica, PAA, PNAE, entre outras. (VALADARES et al., 2016, p. 68).
Entre as principais políticas públicas com vinculação direta com a juventude rural, Barcellos (2014) destaca a criação da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ); a criação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); a constituição do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve); o Pronaf-Jovem; o Programa Nacional de Crédito Fundiário – Nossa Primeira Terra (PNCF-NPT); além do fomento e da relação profícua do governo com os movimentos sociais relacionados à juventude rural.
No contexto da pesquisa empreendida por Valadares et al. (2016), há uma necessidade de descontruir o discurso da permanência como uma alternativa aos menos aptos, aos menos capacitados de uma inserção qualificada no meio urbano. Se a permanência não ocorre por conta dessa fatalidade (SILVESTRO et al., 2001), poder-se-á dizer o contrário, de que a saída é a fatalidade?
Na pesquisa realizada por Kummer (2013), a tendência efetiva demonstrada pelos jovens era de desejo pela permanência, embora poucos admitissem que seria possível realizar esse projeto de vida. Por outro lado, a migração para o meio urbano não era exatamente classificada como fatalidade, mas como uma “outra” opção, que apresentava perdas e ganhos.
É complexo definir esses processos decisórios com base numa percepção linear e binária. Não existem apenas duas opções, embora que se reduzirmos os paralelos acabam restando duas proposições iniciais, que por outros caminhos podem se intercambiar, vide os novos arranjos produtivos. De toda forma, essa não parece ser a opinião de Valadares et al.
A compreensão desse fenômeno delineia uma agenda de pesquisa rica. Se algo já nos parece claro, entretanto, é que a decisão entre ficar e sair do campo não pode ser compreendida como uma decisão privada, resultado da subjetividade dos sujeitos. As decisões são conformadas em contextos específicos, que podem ser radicalmente alterados pelos instrumentos de políticas públicas. (VALADARES et al., 2016, p. 71).
Nesse sentido, discorda-se dos autores, pois as percepções sobre as dinâmicas sociais objetivas também são variadas e tecidas conforme uma miríade
de relações, representações e significados estabelecidos pelos sujeitos. Não se trata de dizer que tomam a decisão tomando como referência o self unicamente, mas compõem essa decisão de dados que os chegam e são interpretados de maneiras variadas. Sem dúvida as políticas públicas e as condições objetivas de vida no campo são preponderantes, mas passam também por essa dinâmica de análise de cada indivíduo. Com isso, não se está apontando uma característica individualista das decisões, mas seu caráter de diversidade e variação numa mesma amostra de análise.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmar, com base na discussão acima, que os jovens rurais da região Oeste de Santa Catarina apresentam um comportamento que tenciona o processo de reprodução da agricultura familiar. Há, efetivamente, uma ruptura nas dinâmicas familiares que expressam a continuidade dos filhos na atividade rural, verificando-se uma crise sucessória nas unidades produtivas rurais, sobretudo naquelas com menor escala econômica. A narrativa de urbanização regional aponta para um projeto de desenvolvimento em que a ruralidade é evocada de forma contraditória: hora como vetor simbólico nostálgico, hora como exemplo de dinâmica ultrapassada. Os jovens rurais organizam seus processos sucessórios informados por esse conjunto de representações. Se há uma valorização afetiva da ruralidade, nem sempre há uma valorização como decisão racional de permanecer nela.
É importante perceber que a construção histórica da região Oeste catarinense fortalece o discurso do “colono providência”, isto é, subsidia um modo de vida pautado nas vitórias materiais individuais. Os jovens rurais são fortemente influenciados pela noção étnica da reprodução da ruralidade, porém a formatam de acordo com valores ressignificados na contemporaneidade. Estão propensos a aceder à tecnologia, modernizarem a gestão, articularem soluções informacionais, ao mesmo tempo que resguardam e dão novo contorno à identidade de “colonos”. Tencionam, portanto, as classificações clássicas de rural e urbano.
Vivenciam, assim, experiências sociais que subsidiam essas representações. Reconfiguram suas avaliações sobre renda, sobre acesso ao mercado, suas possibilidades. Há uma proposição de classe que tenciona uma aproximação com a urbanidade, resguardando critérios rurais históricos. Definem-se pela diferenciação de trajetória histórica, na medida em que o passado de ocupação e colonização teria lhes legado um valor positivado de força e resignação. A historicidade é acionada de modo particular e muitas vezes enviesado para aproximar-se ou distanciar-se de determinadas questões.
A migração, tanto como a permanência são dispostas em elementos diversos das gerações anteriores. São decisões que congregam o passado colonial
sujeitos e PoLíticas
rural e as perspectivas de desenvolvimento urbano da região. As representações que subsidiam esses processos são construídas e reorganizadas conforme suas experiências sociais e em relação a suas identidades. As narrativas que emergem dessa conjuntura tecem e tencionam um discurso regional que ainda está por fazer-se.
REFERÊNCIAS
ABRAMOVAY, R. et al. Juventude e agricultura familiar: desafios dos novos padrões sucessórios. Brasília: UNESCO, 1998.
CARNEIRO, M. J.; CASTRO, E. G. (orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
CASTRO, E. G. Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção social da categoria jovem rural. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional/UFRJ, 2005.
CASTRO, E. G. et al. Os jovens estão indo embora?: juventude rural e a construção de um ator político. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropédica: EDUR, 2009.
CAZELLA, A. A. et al. Agricultura familiar: multifuncionalidade e desenvolvimento territorial no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009.
CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1990.
CHAYANOV, A. V. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Nuevas Visión, 1974.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Petrópolis, Vozes, 1999.
GEORGE, P. Geografia rural. São Paulo: Difel, 1982
KUMMER, R. Juventude rural, entre ficar e partir: a dinâmica dos jovens rurais da comunidade de Cerro Azul, Palma Sola/SC. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – UNIOESTE, Toledo, 2013.
KUMMER, Rodrigo. Juventudes rurais e permanências: ruralidades e urbanidades representadas no Extremo Oeste de Santa Catarina. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade – CPDA, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
KUMMER, R. Cerro Azul: etnografia de uma comunidade rural. In: BONAMIGO, C. A. et al. História: conflitos e diálogos. Francisco Beltrão/PR: Editora Jornal de Beltrão S/A, 2015. p. 93-108.
MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 11. ed., Petrópolis: Vozes, 2015.
PAIM, E. Aspectos da constituição histórica da região Oeste de Santa Catarina. Saeculum – Revista de História, João Pessoa, n. 14, p. 121-138, jan./jul. 2006.
PETRONE, M. T. S. O imigrante e a pequena propriedade (1824-1930). 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
QUEIROZ, M. I. P. de. O campesinato brasileiro: ensaio sobre civilização e grupos rústicos no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1973.
RADIN, J. C. Representações da colonização. Chapecó: Argos, 2009.
RENK, A. A luta da erva: um ofício étnico no Oeste Catarinense. 2. ed. rev. Chapecó: Argos, 2006.
RENK, A. Migrações: de ontem e de hoje. Chapecó: Grifos, 1999.
SCHALLENBERGER, E. Associativismo cristão e desenvolvimento comunitário: imigração e produção social do espaço colonial no sul do Brasil. Cascavel: EDUNIOESTE, 2009.
SILVA, A. L. Fazendo cidade: memória e urbanização no extremo oeste catarinense. Chapecó: Argos, 2010.
SILVESTRO, M. L. et al. Os impasses sociais da sucessão hereditária na agricultura familiar. Florianópolis: Epagri; Brasília: Nead/Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2001.
SIMONI, K. Além da enxada, a utopia. A colonização italiana no Oeste catarinense. Dissertação (Mestrado em História) – UFSC, Florianópolis, 2003.
SPOSITO, M. E. Balanço e Perspectivas. In: CARNEIRO, M. J.; CASTRO, E. G. (orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 123-127.
VALADARES, A. A. et al. Os significados da permanência no campo: vozes da juventude rural organizada. In: SILVA, E. R. A.; BOTELHO, R. U. (Orgs.). Dimensões da experiência juvenil brasileira e novos desafios às políticas públicas. Brasília: Ipea, 2016. p. 59-94.
WANDERLEY, M. N. B. Jovens rurais de pequenos municípios de Pernambuco: que sonhos para o futuro. In: CARNEIRO, M. J.; CASTRO, E. G. (orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 21-34.
WEISHEIMER, N. Juventudes Rurais: mapa de estudos recentes. Brasília: MDA, 2005.
WOLF, E. R. Sociedades Camponesas. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
WOORTMANN, E. F. Herdeiros, parentes e compadres: colonos do Sul e sitiantes do Nordeste. São Paulo-Brasília: Hucitec-Edunb, 1995.

Os textos do livro discutem agricultura familiar, agroecologia e agronegócio, trabalho e migração, solidariedade e desenvolvimento, mulheres e jovens, construção de conhecimento e desafios contemporâneos dos sujeitos rurais. Ao abordar essa ampla gama de temas sob perspectivas teóricas e metodológicas plurais, os textos abordam questões relevantes das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Na medida em que cada capítulo traz sínteses de pesquisas realizadas por discentes e egressos do programa, a obra também traz à tona novas perspectivas e saberes, e permitem observar agendas de pesquisa em transformação. Assim, contribui para a articulação entre passado, presente e futuro nos estudos sobre sociedade, agricultura e modelos de desenvolvimento. 294671 786559
ISBN 9786559294671

