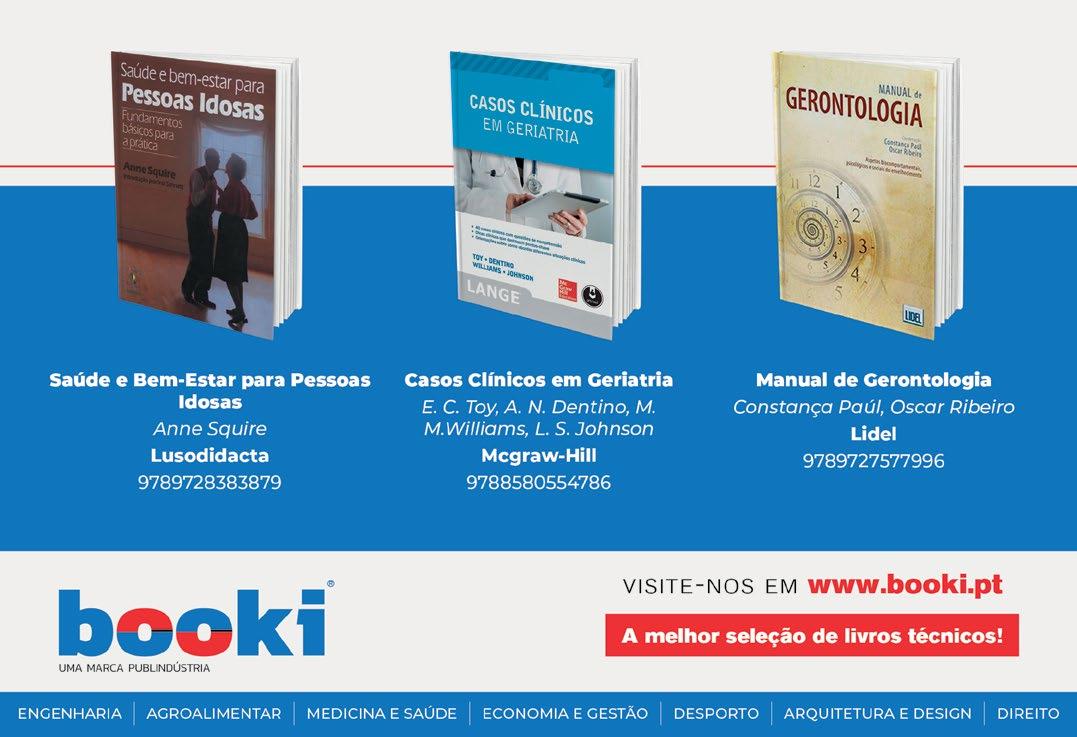38 minute read
Sumário
from DIGNUS nº3
by cie
NUTRIÇÃO Alimentação e nutrição em Gerontologia e Geriatria
P.03
Advertisement
NESTA EDIÇÃO
DOSSIER SOBRE DOENÇAS OCULARES RELACIONADAS COM A IDADE P.20 ESPECIALIDADES MÉDICAS Saúde e reabilitação oral em doentes seniores
P.38
ÍNDICE
02 Editorial
Ver ou não ver, eis a questão?
03 Nutrição
Alimentação e nutrição em Gerontologia e Geriatria
06 Espaço Associação Coração Amarelo O desafio da sustentabilidade
07 Espaço Associação de Farmácias de Portugal
Seringas Só no Agulhão: projeto já permitiu recolher mais de 102 mil seringas em cinco meses

08 Espaço RUTIS
Excesso de gerontotimismo
10 Espaço ERPIS
O papel do Centro de Dia na ocupação dos utentes: boas práticas (3.ª Parte)
14 A Voz de 14 A importância da cidade acessível no processo do envelhecimento ativo 16 Cuidadores de idosos: um olhar sobre a família cuidadora

20 Dossier sobre Doenças Oculares relacionadas com a idade 20 Doenças oculares da idade 22 O que necessita saber sobre Glaucoma na idade adulta 24 Retinopatia Diabética 26 A Catarata em 2020 28 As pálpebras e a idade

30 Mente Ativa Corpo Ativo 30 Medicina chinesa e envelhecimento ativo 32 A Fisioterapia como coadjuvante no tratamento da Doença de Parkinson 34 Terapia Ocupacional e o seu papel na intervenção co a pessoa com demência 37 Reportagem 37 Olhar(es) pelos Cuidados Paliativos 38 O envelhecimento numa visão transfronteiriça
40 Especialidades Médicas 40 Saúde e reabilitação oral em doentes seniores 42 Alterações de comportamento na demência: desafios para quem cuida
44 Entrevista 44 José Manuel Silva: “Cuidar não é apenas ter atenção ao corpo, mas também ao espírito” 47 Nuno Ribeiro: “É importante abrir horizontes para um conhecimento técnico e científico mais atualizado nesta área” 49 APT: “Estamos aqui para ajudar, para tornar a vida dos outros um pouco mais fácil”
51 Informação Técnico-Comercial 51 Solar das Camélias: um espaço de conforto e saúde 52 Stannah: mobilidade reduzida - o risco na hora do banho 55 FutureLift: mais tempo, mais qualidade de vida
56 Case Study 56 Os lugares que o saber ocupa: a aprendizagem ao longo da vida no Programa 60+ 58 Vai nascer o primeiro hotel assistencial em Vila Nova de Famalicão
60 Notícias
63 Atividades
Ver ou não ver, eis a questão?
Cláudia Guedes da Costa Diretora
Caríssimo leitor,
O ser humano tem cinco sentidos e a visão é a única que permite ver o mundo criando imagens fantásticas na memória, tornando-se determinante na relação do indivíduo com o espaço envolvente. Das suas aferências derivam muitas operações complexas desde a sobrevivência à execução de tarefas claramente especializadas e elaboradas.
As transformações morfológicas e fisiológicas associadas ao envelhecimento são inevitáveis. A visão acompanha esta degenerescência criando novos paradigmas visuais.
A incidência das alterações normais e patológicas do sistema visual irão paulatinamente avolumar-se, condicionando a qualidade de vida com consequências a nível pessoal, familiar, profissional e ainda acarreta enormes custos sociais e económicos. Grande parte da perda visual não chega a ser diagnosticada e, portanto, não recebe tratamento, somando e agravando outras incapacidades funcionais, favorecendo a depressão, o isolamento social, aumentando as comorbilidades e as disfunções previamente presentes: » perda de interesse por uma atividade anteriormente agradável, por exemplo, a leitura, um importante instrumento de inclusão social e de combate à solidão; » intoxicações alimentares e mesmo envenenamentos pela dificuldade na leitura de rótulos e dos prazos de validade dos medicamentos; » dificuldade no excesso de luminosidade; » instabilidade nas passagens para ambientes mais escuros ou mais claros; » dificuldade na identificação de letras pequenas; » acidentes no interior e exterior porque não percebem desníveis e não visualizam degraus; » dificuldade com a confluência de corredores; » desorientação em ambientes com uniformidade de cores, bem como com excesso de padrão; » dificuldade em seguir pistas sensoriais pouco ou escassamente identificadas como números ou letras nas portas; » quedas e atropelamentos.
Desde Hipócrates até à atualidade que a evolução do conhecimento na área da oftalmologia e a preocupação com a prevenção, tal como com um diagnóstico cada vez mais precoce, potenciam com o propósito de assegurar às pessoas um melhor funcionamento visual. A visão deve ser acautelada desde o nascimento, exortar a sua prevenção e tratar quando necessário. O aperfeiçoamento tecnológico em cooperação com a literacia visual permitem a prevenção e o tratamento de doenças anteriormente classificadas como incuráveis. Para preservar a saúde ocular, as pessoas devem ter acompanhamento médico regular, de preferência anualmente, ou em períodos mais curtos, caso haja prescrição para tal. No que respeita ao panorama da saúde da visão em Portugal, existem diferentes medidas para globalmente aumentar a assistência à população.
Espero que veja com bons olhos este terceiro número dedicado às Doenças Oculares relacionadas com a Idade.
FICHA TÉCNICA
DIGNUS 03 4.º trimestre 2019
DIRETORA Cláudia Guedes da Costa · claudia.dignus@gmail.com
CONSELHO EDITORIAL Ana Araújo, Ana Isabel Martins, Ana Monteiro, António Palha, Carlos Wehdorn, Cláudia Moura, Elisa Serôdio, Filipa Menezes, Helena Costa, Horácio Firmino, Ilda Gois, Janinéri Cordeiro, Joana Monteiro, Joana Sousa, José Manuel Silva, José Reis, José Canas da Silva, Luís Jacob, Madalena Pinto, Manuel Viana, Márcio Vara, Margarida G. Resende, Ricardo Pocinho, Sandra Penêda Patrício, Sérgio Ferreira
CORPO EDITORIAL Diretor Executivo: Júlio Almeida T. +351 225 899 626 · julio.almeida@dignus.pt Marketing: André Manuel Mendes · geral@dignus.pt Redação: Helena Paulino,T. +351 220 933 964 · redacao@dignus.pt
DESIGN E WEBDESIGN Ana Pereira · a.pereira@cie-comunicacao.pt · T. +351 225 934 633
ASSINATURAS T. +351 220 104 872 · info@booki.pt · www.booki.pt
COLABORAÇÃO REDATORIAL Susana Arranhado, Isabel Baião, Manuela Pacheco, Luís Jacob, Mónica Teixeira, Ana Soares, Catarina Teixeira, Adriano António Pinto de Sousa, Assunção Nogueira, Zaida Azeredo, José Guilherme Monteiro, Maria João Menéres, Lilianne Duarte, José Salgado-Borges, Filipe Esteves, Pedro Coelho, Sandra Prazeres, Helena Costa, Gabriela Martins, Cristiana Carvalho, Esmeralda Martins, Elisa Serôdio, Cristiana Pinto, Inês Varejão Sousa, Luísa Pimentel, Sara Mónico Lopes, Cezarina Maurício e Sandra Silva.
PROPRIEDADE, REDAÇÃO E EDIÇÃO
CIE - Comunicação e Imprensa Especializada, Lda. ®
Empresa jornalística Reg. n.º 223992 NIPC: 509 870 104 Grupo Publindústria Praça da Corujeira, 38, Apartado 3825, 4300-144 Porto T. +351 225 899 626/8 geral@cie-comunicacao.pt · www.cie-comunicacao.pt
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Júlio António Martins de Almeida (gerente)
DETENTORES DE CAPITAL SOCIAL Júlio António Martins de Almeida (40%) António da Silva Malheiro (30%) Publindústria – Produção de Comunicação, Lda. (30%)
PUBLICAÇÃO PERIÓDICA Registo n.º 127253 Depósito Legal: 461353/19 ISSN: 2184-6359 Tiragem: 5000 exemplares Periodicidade: Trimestral INPI: 602419
IMPRESSÃO E ACABAMENTO acd print Rua Marquesa d´Alorna, 12 A | Bons Dias, 2620-271 Ramada
Estatuto editorial disponível em www.dignus.pt
Os trabalhos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.

Susana Arranhado Nutricionista e docente na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria e na Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
“(...) a nutrição e alimentação do idoso exige uma atenção aprofundada (...) um estado nutricional desapropriado contribui significativamente para a diminuição da funcionalidade e autonomia e aumento da morbilidade e da mortalidade” Q ue a alimentação e nutrição são fundamentais em qualquer fase do ciclo de vida é sobejamente conhecido, mais ainda quando se trata de indivíduos idosos. As alterações próprias e fisiológicas do envelhecimento afetam as necessidades nutricionais do geronte e podem também dificultar a ingestão alimentar com repercussões, muitas vezes graves, ao nível do estado nutricional e funcionalidade. Deste modo, o binómio idade/envelhecimento-alimentação é dinâmico e bilateral. Assim, decorrente do processo de envelhecimento normal, outras limitações podem ocorrer, com consequências, na ingestão alimentar e no estado nutricional. De seguida, apresentam-se algumas dessas alterações.
A nível da composição corporal, verifica-se redução da água corporal, o que aumenta o risco de desidratação nesta faixa etária (Medina, 2004; Ferry, 2004). Constata-se uma diminuição de 0,3 l/ano desde a idade adulta até aos 70 anos. Após esta idade, a diminuição é ainda mais acentuada (Ferry, 2004).
No envelhecimento saudável, as necessidades energéticas diminuem com a idade em função de modificações na composição corporal (Mahan, 2005): a perda do tecido metabolicamente mais ativo (da massa muscular) é acompanhada por um aumento do tecido adiposo, que preconiza assim uma diminuição das necessidades energéticas totais (NET).
Respeitante ao sistema imunitário, verifica-se um decréscimo da sua função com a idade (Mahan, 2005), pelo que o idoso necessita de um maior aporte de vitaminas do complexo B, vitamina E e de zinco (Blumberg, 1997).
Verifica-se também uma diminuição do peristaltismo do esofágo, a qual conduz a uma maior lentificação na descida dos alimentos, à dilatação e alteração morfológica do esfíncter esofágico inferior (cárdia), podendo resultar no aparecimento de refluxo gastroesofágico (Medina, 2004).
O pâncreas diminui o seu tamanho com o envelhecimento e apresenta maior fibrose do parênquima. O aumento dos níveis da hormona colecistoquinina promove uma diminuição do limiar de saciedade. Por conseguinte, a saciedade precoce manifestada pelos idosos pode ser explicada em parte pela diminuição da distensão do fundo gástrico, pelo aumento da estimulação do antro e pela secreção alterada de hormonas como a colecistoquinina e a leptina (Ferry, 2004; Medina 2004).
As alterações da capacidade de secreção gástrica e consequente elevação progressiva do pH potenciam o aumento das necessidades em ácido fólico, vitamina B12, cálcio, ferro e zinco (Ferry, 2004, Mahan, 2005; Blumberg, 1997).
As modificações nas vilosidades intestinais, com implicações óbvias na absorção de nutrientes acometem a pessoa idosa. Um intestino envelhecido é um intestino mais suscetível a perturbações como a obstipação, a flatulência e a diarreia, com um grande impacto no estado nutricional do ser humano, com especial expressão no idoso,


Diminui com o aumento da idade Aumenta com o aumento da idade Vitamina A Cobre sérico 1.25-dixidroxivitamina D Iodo sérico (depois dos 45 anos) Vitamina B1 Níquel (nos pulmões) Atividade da glutationa redutase (associada à vitamina B2 e provavelmente à B3 Piridoxal fosfatase (associada à B6) Vitamina B12 Vitamina C Crómio e cobre (na saliva, cabelo e coração) Fluor no esqueleto Manganésio (no rim e coração) Selénio
A ingestão de alimentos pode igualmente ser condicionada pela perda ou por alterações das capacidades sensoriais (paladar, visão e olfacto), as quais podem ser alterações fisiológicas, ou seja, normais do envelhecimento ou podem resultar de doenças na medida em que os indivíduos desta faixa etária desidratam rapidamente e com graves consequências. Importa, então, considerar a desidratação como um problema maior no idoso, uma vez que há uma diminuição da perceção da sede e diminuição da sensibilidade dos osmorrecetores, o que por si só já constitui um risco para a desidratação, pois desta forma a ingestão hídrica é insuficiente. Contudo, também pode ocorrer por aumento das perdas de líquidos, provocadas por infeções ou pela toma de medicamentos, como os diuréticos e os laxantes.
A absorção de cálcio diminui no decurso do envelhecimento, levando a que este seja mobilizado dos ossos para manter os níveis extracelulares. O resultado é a perda da densidade óssea, que se pode manifestar por osteoporose. Esta situação reitera o aumento das necessidades de cálcio e vitamina D na pessoa idosa. Em bom rigor, a necessidade desta vitamina é dependente da idade, do sexo, da pigmentação da pele e do grau de exposição à luz solar. A capacidade da pele em produzir vitamina D a partir da luz solar é 60% menor nos idosos. No indivíduo idoso, a absorção de vitamina D no intestino diminui e aumenta a absorção de vitamina A. Assim, há uma redução da necessidade em vitamina A (Blumberg, 1997; Ferry, 2004; Afonso, 2012).
Também o rim manifesta alterações anatómicas e funcionais. Quanto à função renal, a taxa de filtração glomerular pode diminuir cerca de 60% entre os 30 anos e os 80 anos (Mahan, 2005), devido à redução do número de nefrónios, à presença de doenças crónicas, bem como devido ao decréscimo do fluxo sanguíneo. A capacidade de concentração da urina diminui com a idade. Assim, a eliminação de produtos de degradação e substâncias tóxicas requer uma maior quantidade de urina (Ferry, 2004).
Em síntese e com base no anteriormente mencionado, pode dizer-se que o idoso é tendencialmente desidratado. ou de efeitos da medicação (iatrogenia). As alterações nos órgãos dos sentidos, nomeadamente no paladar e olfacto, podem conduzir a variações do padrão alimentar do idoso, pois estes permitem a identificação dos alimentos e conferem às refeições o prazer e conforto associados ao consumo de alimentos. Permitem ainda a detecção de potenciais agentes de contaminação e de alimentos deteriorados.
As disfunções verificadas ao nível do paladar e do olfacto surgem aproximadamente aos 60 anos, tornando-se mais acentuadas após os 70 anos. De facto, o paladar tem uma componente fisiológica mas também cultural muito marcada. A diminuição da capacidade de discriminação entre os sabores fundamentais (doce, salgado, amargo, e ácido) explica-se pela atrofia das papilas gustativas presente nesta faixa etária. Daí que os Alteração na composição corporal ou função fisiológica Impacto nas necessidades nutricionais Diminuição da massa muscular Diminuição das necessidades energéticas Diminuição da densidade óssea Aumento das necessidades em cálcio e vitamina D Diminuição da função imunitária Aumento das necessidades em vitamina B6, vitamina E e zinco Aumento do pH gástrico Aumento das necessidades em vitamina B12, ácido fólico, cálcio, ferro e zinco Diminuição da capacidade da pele para a produção de colecalciferol Aumento da necessidade em vitamina D Aumento da capacidade para produção de hormona paratiróide (Inverno) Aumento da necessidade em vitamina D Diminuição da biodisponibilidade em cálcio Aumento das necessidades em cálcio e vitamina D Diminuição da função hepática do retinol Diminuição da necessidade em vitamina A Aumento do estado de stress oxidativo Aumento das necessidades em betacaroteno, vitamina C e vitamina E Aumento dos níveis de homocisteína Aumento das necessidades em folatos, vitamina B6 e vitamina B12 Tabela 1. Resumo do impacto do envelhecimento nas necessidades nutricionais. Tabela 2. Envelhecimento e o seu impacto nos micronutrientes. “(...) pode dizer-se que o idoso é tendencialmente desidratado.”
© freepik
idosos preferiram alimentos mais doces e salgados ou muito condimentados (Ferry, 2004).
A audição, a visão e o tato, participantes indiretos na ingestão alimentar, podem também condicionar o apetite, o reconhecimento dos alimentos e a capacidade de o idoso se alimentar sozinho (Mahan, 2005). Desta forma, o olfato, a visão, o tato e o paladar assumem um papel importante na fase cefálica da digestão, ao transmitem ao cérebro a informação sobre o alimento a ingerir. Têm a responsabilidade pela ativação de processos metabólicos, tais como as secreções pancreáticas, a estimulação da secreção das glândulas salivares e do suco gástrico, o aumento dos níveis plasmáticos de insulina, bem como estimulam o sistema nervoso parassimpático na libertação de acetilcolina.
A falta de peças dentárias e consequentes problemas de mastigação constituem uma grande parte das limitações relacionadas ao envelhecer. As alterações nas gengivas e nos dentes (nomeadamente a perda de dentes, a redução do esmalte dentário e a utilização de próteses dentárias desapropriadas) podem levar a uma redução da ingestão ou até mesmo à recusa de certos alimentos (Ferry, 2004; Mahan, 2005; Medina, 2004), mesmo os preferidos. A perda de peças dentárias modifica a alimentação dos idosos, com redução do consumo de hortofrutícolas e de carne (Ferry, 2004). O edentulismo parcial ou total pode afetar de forma significativa a saúde global do indivíduo idoso assim como pode interferir diretamente e de forma nefasta na sua qualidade de vida, principalmente no convívio social. Nesta faixa etária, as patologias orais mais frequentes são a doença periodontal e as cáries dentárias, constituindo estas duas entidades clínicas, as principais causas de perda dentária. As lesões da mucosa oral e a xerostomia são, igualmente, condições orais muito frequentes em idosos.
Em suma, a nutrição e alimentação do idoso exige uma atenção aprofundada e o mais personalizada possível, com inclusão dos diversos domínios (nomeadamente saúde e social) pois na pessoa idosa, um estado nutricional desapropriado contribui significativamente para a diminuição da funcionalidade e autonomia e aumento da morbilidade e da mortalidade.
Referências bibliográficas 1. World Health Organization (WHO). Active Ageing, A Policy Framework. A contribution of the WHO to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, Espanha, abril, 2002. 2. Ferry M, Alix E. A nutrição na pessoa idosa – Aspectos fundamentais, clínicos e psicossociais. 2.ª Edição. Lusociência, Loures, 2002. 3. Afonso C, Morais C, de Almeida MDV. Alimentação e Nutrição in Manual de Gerontologia – Aspectos biocomportamentais, psicológicos e sociais do envelhecimento. Lidel, 2012. 4. Blumberg J. Nutritional nedds of seniors. Journal American College of Nutrition. 1997; 16(6):517-523. 5. Medina Mesa R., Dapcich V. Fisiología del envejecimiento. In: Hornillos MM, Bartrina JA, Garcia JLG. Libro Blanco de la Alimentación de los Mayores. 1.ª Edición. Buenos Aires: Editoral Médica Panamericana, S.A.; 2004. p.15-21. 6. Ferry M. Strategies for ensuring good hydration in the elderly. Nutrition reviews. 2004. 63(6 Pt 2):S22-9. 7. Mahan LK, Escott-Stump S: Krause - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 11ª. ed. São Paulo, Roca,2005.
O desafio da sustentabilidade
Isabel Baião Socióloga responsável pela área de Projetos, Parcerias e Fundraising da Delegação de Lisboa
Sustentabilidade, esta palavra soa familiar aos nossos ouvidos, principalmente quando falamos de questões ambientais, mas hoje venho propor-vos uma reflexão diferente: como é que associações sem fins lucrativos sobrevivem nesta economia de mercado em que ouvimos falar do setor público, do setor privado, mas muito pouco do terceiro setor.
Tomemos como exemplo real a prática vivida na Associação Coração Amarelo – Delegação de Lisboa. Esta Associação tem por missão apoiar e acompanhar as pessoas idosas, da cidade de Lisboa, que se encontrem em situação de solidão e/ou isolamento ou em risco de virem a estar. Sendo uma entidade enquadradora de voluntariado, assegura esta missão através de um grupo de voluntários enquadrados por uma equipa técnica de retaguarda responsável pela integração, acompanhamento e supervisão do trabalho destes voluntários. Aposta na inovação de uma resposta qualificada e diferenciada que se coaduna com contextos pessoais e sociais em permanente desenvolvimento.
A possibilidade de dispor deste enquadramento técnico advém da existência de um acordo atípico de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, o qual assegura a atribuição de um subsídio mensal correspondente aos vencimentos dos colaboradores, MAS pago 12 vezes ao ano. Ora, evidencia-se desde já um desfasamento nas obrigações contratuais a que a delegação está sujeita, na medida em que, a Lei do Trabalho determina o pagamento de 14 meses de vencimento a trabalhadores com vínculo contratual. Acrescem a este fosso, as contribuições por conta da entidade, para a Segurança Social e para a Fazenda Pública que também não se encontram refletidas neste subsídio, os Seguros obrigatórios de Acidentes de Trabalho e ainda os Planos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Tal como qualquer outra organização, independente da sua natureza jurídica ou área de atuação.
Daqui resulta que muito do trabalho das equipas de gestão que têm exercido funções nesta delegação se tem concentrado, na procura de soluções financeiras para cobrir os custos fixos a que se encontra obrigada, quando o desafio principal seria o desenvolvimento da própria resposta social que preconiza.
Como podemos vencer este obstáculo? O desafio é gerar fontes alternativas de receitas para além das expectáveis neste tipo de as

sociações: quotas de associados e alguns donativos pontuais.
Para além de procurar divulgar o trabalho que é desenvolvido pela Associação e de encontrar indicadores objetivos que permitam quantificar o impacto na vida dos utentes e dos voluntários também é importante conseguir alertar os decisores políticos a adaptar a legislação de modo a que as políticas públicas sejam adequadas às atividades das Instituições Particulares de Solidariedade Social e facilitem o desenvolvimento de novas iniciativas que possam fazer face à atual situação económica e social.
A Rede Social também tem que funcionar como verdadeira rede para estabelecimento de parcerias, mais do que um conjunto de organizações concorrentes na procura de um objetivo comum, que é chamar a atenção das empresas para que se interessem pela missão de cada uma das instituições e possam assim contribuir com donativos regulares.
Para além do que atrás foi referido é urgente mudar de paradigma: a gestão tem que ser profissional para conseguir fazer face aos desafios da economia.
O voluntariado tem que estar enquadrado para que todos se foquem nos resultados a atingir e na criação de valor. Ao mesmo tempo, tem que existir uma preocupação de todos os envolvidos na melhoria contínua do desempenho das equipas profissionais: é preciso que cada um questione o que faz, como faz, para que faz e para quem faz, para que possa desenvolver um trabalho cada vez mais eficaz e adequado aos desafios que se apresentam. A partilha de boas práticas entre as diferentes instituições também poderá contribuir para a diversificação das fontes de financiamento e para o desenvolvimento de parcerias focadas na economia de escala, bem como para a racionalização da oferta de serviços, criando novos modelos de respostas sociais e encontrando estratégias adaptadas ao mercado e ao perfil das empresas com responsabilidade social.
Só com a sinergia criada pela articulação de todos os fatores referidos anteriormente poderemos continuar o nosso caminho, sempre na direção de um envelhecimento positivo e participativo.
Manuela Pacheco Presidente da Associação de Farmácias de Portugal (AFP) N unca como hoje se falou tanto sobre políticas que promovam a melhoria dos cuidados de saúde prestados às populações. Atenta à emergência destas preocupações, a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) tem-se dedicado à elaboração de soluções para responder aos desafios da nossa sociedade. Foi nesse sentido que criámos em 2019, o projeto-piloto pioneiro “Seringas Só no Agulhão”, um projeto que ambicionamos alargar, em breve, a todo o país. Lançado em parceria com a empresa Stericycle, o programa “Seringas Só no Agulhão” tem como finalidade recolher nas farmácias as seringas e agulhas usadas pelos doentes diabéticos, bem como de todos aqueles que utilizam medicamentos injetáveis. Para esse efeito foi instalado nas farmácias aderentes um contentor próprio – o Agulhão.
Embora sendo um projeto-piloto, os resultados obtidos durante os primeiros cinco meses do programa confirmam o sucesso e a relevância desta iniciativa: entre julho e novembro de 2019 foram recolhidas nas farmácias aderentes mais de 102 mil seringas e agulhas.
Recorde-se que até à data não existe nenhum sistema de recolha nacional para este tipo de resíduos. O único sistema de recolha de seringas disponível está inserido no âmbito do PTS (Programa de Troca de Seringas) – um programa especialmente dirigido às Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI). Nestes casos, as farmácias recolhem as seringas usadas (que depois são destruídas) e, em troca, devolvem aos cidadãos material esterilizado.
Mas os doentes diabéticos vivem há décadas com o problema de não saberem o que fazer com as suas seringas e agulhas. A AFP sabe que nestes casos a solução mais comum passa por colocar as seringas dentro de garrafas de plástico que depois são depositadas no lixo. Por considerar que este não é, de todo, o destino ideal para resíduos desta natureza, a AFP criou o projeto “Seringas Só no Agulhão” para encontrar uma solução ambientalmente segura que permita aos utilizadores de medicamentos injetáveis entregarem as suas seringas usadas nas farmácias.
Com o Agulhão, os cidadãos passam a ter ao seu dispor, pela primeira vez, uma solução segura, ecológica e gratuita para as suas seringas usadas. Nesta fase, o projeto-piloto “Seringas Só No Agulhão” está implementado em 10 farmácias dos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Braga e Vila Verde. As farmácias aderentes são as seguintes: Farmácia Costa Macedo (Vila Verde); Farmácia Cristal (Braga); Farmácia da Areosa (Rio Tinto); Farmácia de Aguiar (Gondomar); Farmácia Falcão (Porto); Farmácia Henriques (Porto); Farmácia Leça do Balio (Leça do Balio); Farmácia Monte da Virgem (Vila Nova de Gaia); Farmácia Padrão da Légua (Custoias); Farmácia Portela (Vila Nova de Gaia). Apesar de estar circunscrito ao Norte do país, a AFP tem a ambição de alargar o projeto a nível nacional. “(...) os doentes diabéticos vivem há décadas com o problema de não saberem o que fazer com as suas seringas e agulhas.”
Um projeto pioneiro que promove a Saúde Pública e defende o meio ambiente Segundo as estimativas da AFP, com base nos dados IQVIA, todos os anos são gerados em Portugal mais de 250 milhões de resíduos (seringas e agulhas) em ambulatório. São resíduos que, devido à inexistência de uma recolha segura, vão parar ao lixo comum. Se o projeto “Seringas Só no Agulhão” deixar de ser um projeto-piloto e passar a ser um programa de âmbito nacional, acreditamos que uma elevada percentagem destes resíduos passará a ser tratada de forma adequada quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista de Saúde Pública.
Por todas estas razões, em 2020, a AFP estará focada na sensibilização das autoridades competentes para os benefícios do programa “Seringas Só no Agulhão” e para a importância do desenvolvimento de soluções de recolhas de seringas para os utilizadores de medicamentos injetáveis nas farmácias de todo o país. Da mesma forma, a AFP continuará a trabalhar para divulgar o Agulhão junto das populações, para que possam beneficiar desta solução inovadora. Vamos também apostar no desenvolvimento de novos programas que vão de encontro às necessidades de saúde dos cidadãos. Porque esta é a nossa missão: trabalhar de perto com os farmacêuticos para melhor servir a comunidade.

Luís Jacob Professor Adjunto no Instituto Politécnico de Bragança e Presidente da RUTIS

Excesso de gerontotimismo
Frequentemente quando reflito sobre o envelhecimento recordo-me de três frases que me marcaram de alguma forma, uma é de Jorge Amado (1912-2001, 89 anos), que numa das suas últimas entrevistas afirmou que “A velhice é uma porcaria”, outra é da atriz brasileira Tónia Carrero (1922- 2018, 95 anos) que afirmou “A velhice é a prova que o inferno existe” e por fim a minha mãe dizia no final da sua vida (1937-2017, 80 anos), “Já enterrei tanta gente”. O que estas três pessoas têm em comum é que ultrapassaram os 80 anos e tiveram um envelhecimento ativo até quase ao fim das suas vidas. Estas afirmações vem contradizer um pouco a “vaga” que surgiu nos últimos anos de um gerontotimismo, considerando este como “a perceção que é transmitida de que a velhice é a melhor fase de vida e que o envelhecimento é um processo isento de dificuldades, pleno de satisfação”, que advoga e enaltece as maravilhas e potencialidades da velhice, muito associado ao conceito de “envelhecimento ativo ou bem sucedido”.
Este movimento afirma que a terceira/ quarta idade é a melhor fase da vida, há até quem lhe chame a idade “dourada” ou quem promova a gerontoadolescência, como se os mais velhos pudessem e devessem repetir os comportamentos dos adolescentes.
No entanto o envelhecimento é um processo pessoal, gradual e irrecuperável de declínio e de percas (pessoais e coletivas), maiores ou menores conforme a sorte e saber do individuo. Para uns o envelhecimento será um caminho para a morte, tranquilo e sem grande sofrimento, para outros será um percurso pejado de amargura e dor. Sendo que, se uma parte está entregue aos “deuses” ou ao “destino/sorte” de cada um, uma boa parte da preparação deste caminho está na mão de cada um.
À velhice associam-se regulamente muitos males, como por exemplo a solidão, a doença, o isolamento, a pobreza, a incapacidade, a exclusão; pelo que é considerada por muitos como o princípio do fim. Contudo tendo em conta os atuais conhecimentos do desenvolvimento humano ao longo do ciclo de vida, pode-se dizer que a mudança dessas diferentes capacidades não é unidirecional, nem universal, nem irreversível. Embora algumas capacidades se possam deteriorar, outras mantêm-se e podem inclusive ser enriquecidas.
Há vários fatores que influenciam a qualidade do envelhecimento e a maneira como este se relaciona com a vida do próprio individuo. Há fatores intrínsecos e extrínsecos à pessoa, os internos relacionados com as opções que fez ao longo da vida, aos hábitos de vida que teve/tem; com a capacidade mental que possui e/ou desenvolveu (iniciativa, otimismo, ansiedade, resistência ao stress, resiliência, entre outros); com quem escolhe/eu viver; as redes sociais que construiu. Os externos são referentes a acontecimentos que o individuo não controla/ou, a sua própria genética: a acidentes; a doenças; ao meio onde esteve inserido; à família e “azares” e “sortes” que teve na vida. Os principais fatores estão expressos nesta figura: “(...) o envelhecimento é um processo pessoal, gradual e irrecuperável de declínio e de percas (...)”

De todos estes 6 fatores são a “saúde e autonomia” e “companhia e redes comunitárias” que assumem uma maior relevância, analisando vários autores e estudos realizados.
Em conclusão, apesar de a última fase da vida ser inevitavelmente associado a muitas percas e como tal devemos ser alguma prudência neste gerontotimismo, também é verdade que pode ser um período muito interessante na vida, assim as condições pessoais e ambientais o permitam.
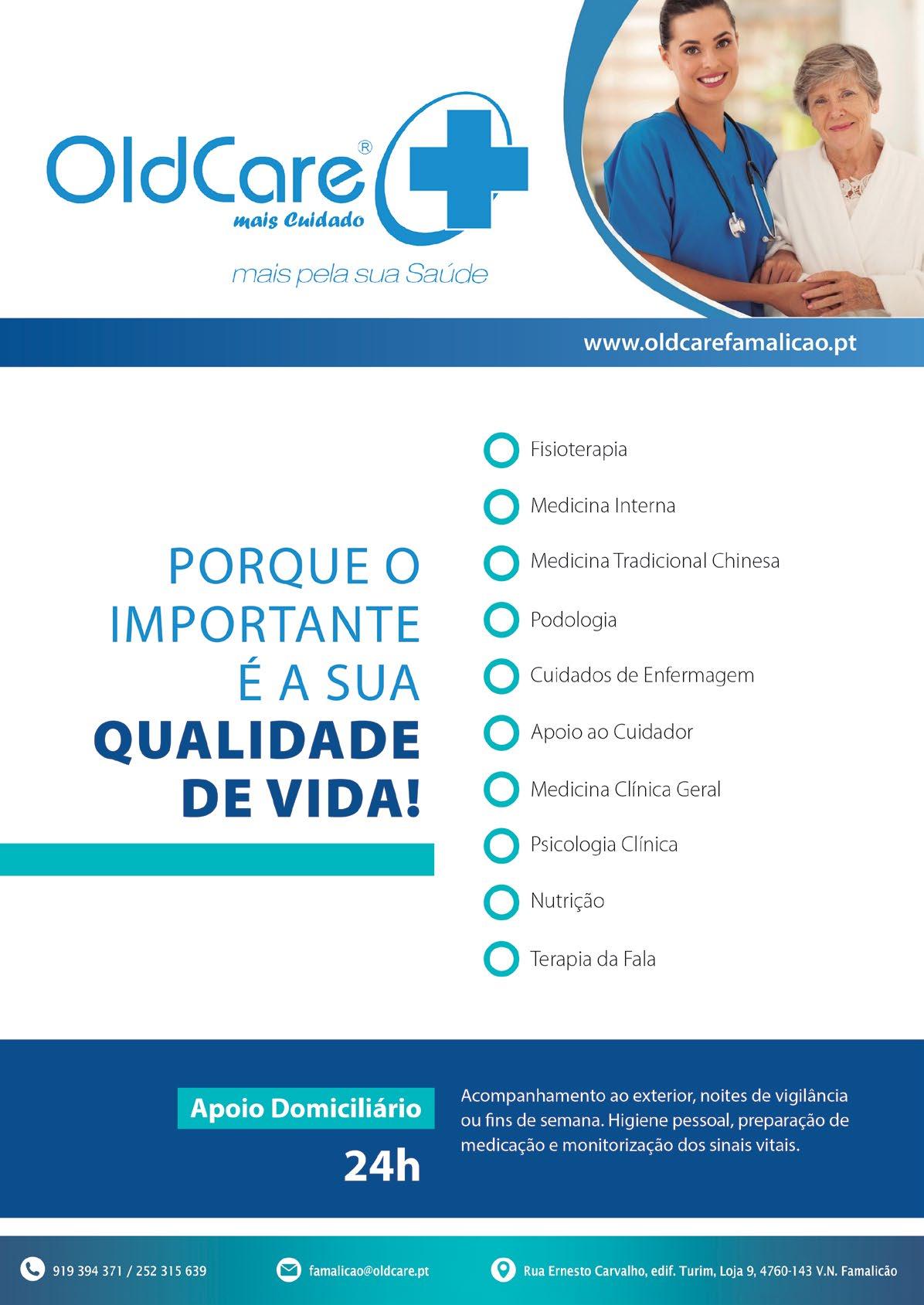
O papel do Centro de Dia na ocupação dos utentes

Boas práticas » 3.ª Parte
1 Mónica Teixeira, 2 Ana Soares e 3 Catarina Teixeira
1 Diretora de serviços do Centro de Apoio Social
de Vila Nova de Monsarros
2 Equipa técnica do Centro de Apoio Social
de Vila Nova de Monsarros
3 Gerontóloga
Exemplos práticos de atividades individuais e de grupo e considerações genéricas Tal como expusemos anteriormente, todas as atividades subsequentemente mencionadas são realizadas em contexto real, num Centro de Dia integrado em meio rural, com outras respostas socais associadas e com um número máximo de 30 utilizadores diários. Deste modo, o modelo de ocupação apresentado poderá, no nosso entender, contribuir para a replicação dos procedimentos operacionais usados, primordialmente em ambientes similares.
No que concerne às atividades individuais o foco prende-se, como já mencionámos, em cativar os indivíduos de modo a compreender exatamente quais as suas necessidades, preferências, limitações, potencialidades e de que forma cada um se sente inserido/integrado na instituição e no grupo. Considera-se fundamental este tipo de trabalho junto dos indivíduos através da promoção e incremento de atividades de ocupação significativas, resultantes de uma escolha livre e voluntária. Consideramos uma diversidade de formas de proporcionar resposta às necessidades ocupacionais dos utentes e de os manter preenchidos no dia a dia, de modo a que experimentem sentimentos de utilidade e de importância a nível individual e ou coletivo. Assim sendo, elencamos seguidamente uma listagem de contributos práticos previamente experienciados no Centro de Dia em análise.
Primeiramente destacamos a importância das criações em cadeia, isto é, distribuição das diversas tarefas em que cada utente possui uma função diferente, mas essencial para o resultado final. Destacamos deste modo o seguinte exemplo: mensalmente os utentes participam numa aula de ginástica interinstitucional com todos os idosos do concelho. O local de realização da atividade é previamente calendarizado para diversas infraestruturas dos diferentes locais do concelho (com dimensão para acolher 150 a 300 participantes). No momento em que a atividade se realiza na comunidade, do Centro de Dia em questão, os utentes criam, desenvolvem e oferecem um acessório de ginástica (previamente aferido com o monitor da atividade) a todos os participantes para a realização da aula. Assim sendo, a atividade “ginástica” começa com a dinâmica da definição e conceção dos acessórios, a qual descrevemos seguidamente: a criação de sacos de peso em tecido (aproveitamento de retalhos), com diferentes pesos e atilhos para a utilização nas mãos e pernas/pés de forma a adaptar-se a idosos com as mais variadas características bio fisiológicas (capacidade física, doença, entre outras); assim sendo, necessitámos de participantes para colocar areia em sacos, outros para vedar os mesmos sacos com fita-cola a toda a volta, outros para costurar os retalhos em forma de saco, outros para cortar o trapilho no tamanho certo, outros para costurar os atilhos nos sacos e outros a fechar os sacos.
Para além deste exemplo de objeto, ao longo dos últimos 5 anos, os utentes criaram cordas entrançadas em trapilho, canas compridas protegidas nas extremidades com balões e trapilho, bolas de areia com balões, canas curtas com fita de seda na ponta,
elásticos feitos com câmaras de bicicleta e canas nas extremidades, entre outros.
Os utentes que apreciam trabalhos de costura podem estar envolvidos, individualmente tendo em conta a sua aptidão, em tudo o que necessite de costura num âmbito institucional. A planificação das atividades manuais pode agregar igualmente as atividades de cariz solidário realizadas em prol da instituição (como seja a venda de produtos), bem como as necessidades internas diárias (produtos necessários ao Centro de Dia). Deste modo, é tida em consideração a melhor forma de manter as pessoas ocupadas, assim como, fomentar sentimentos de utilidade ao verem as suas produções usadas e valorizadas. Como exemplo das atividades de costura já experienciadas salientamos: quadro de orientação para a realidade, costurado integralmente por uma utente; assim como, os resguardos de peito para a refeição, os sacos de atilho para as compras e para transportar lanche, decoração dos jantares e stands em que a instituição está representada.
Para além dos anteriores salientamos a realização de outras manualidades como sejam sacos em crochet com trapilho para a colocação das garrafas de água em cada uma das cadeiras junto da pessoa, elementos decorativos exteriores para festividades da comunidade, tapetes de trapilho para a sala das crianças, das respostas sociais da instituição, costura de elementos base para que as crianças possam decorar e oferecer em dias temáticos (gravatas, corações, saquinhos, tabuleiros de jogos, entre outros) e também mantas/aventais/painéis/xailes de histórias acompanhados de fantoches/ dedoches. Para os utentes que preferem atividade de leitura, o Centro de Dia associou-se ao projeto da Biblioteca Rota dos


Livros, que permite a requisição mensalmente de livros. Neste âmbito, a requisição dos mesmos assenta nos gostos particulares do utente, sendo que o mesmo os poderá continuar a sua leitura no período em que está no domicílio.
Os utentes do Centro de Dia que, por iniciativa e criatividade próprias, criaram e desenvolveram objetos diversificados são incentivados pela resposta social no sentido que essas produções sejam exequíveis. Neste âmbito destacam-se: cestos, monumentos em ponto pequeno, bases para a colocação de cartas para os utentes com dificuldade em manter o baralho na mão, casas de cortiça e de palha para presépio, carros alegóricos para o carnaval, etc. Ainda no que respeita às atividades de criação, perceciona-se como mais-valia a ajuda às crianças, pelos idosos, nos processos de criação (nomeadamente em tarefas que as crianças não são capazes de realizar e que implicam alguns riscos, como seja a utilização de cola quente).
Por fim, ainda relativamente às atividades individuais, destacamos a atribuição de tarefas relacionadas com o cuidar das plantas existentes no interior/exterior do Centro de Dia, conceção e desenvolvimento da horta, preparação do espaço para receção dos utentes e atualização diária do calendário.
Já nas atividades coletivas, a diversidade de opções das mesmas junto do grupo de utentes são, no nosso entender, numerosas. No entanto, destacamos aquelas que avaliamos, após a sua realização, como benéficas, prazenteiras e relevantes para os utilizadores do Centro de Dia em foco do presente artigo. Na continuação das ideias debatidas anterior


mente, a perspetiva coletiva engloba forçosamente a individualidade de cada utente uma vez que esta é potenciada dentro do grupo. Assim sendo, na promoção de atividades em grupo considera-se o papel específico para cada elemento.
Para manutenção da dinâmica do grupo com base na diversidade de atividades, tendo por base os gostos/preferências dos utilizadores, poderá ser concebido um baú de recursos que contemplam possibilidades de dinâmicas variadas para um período, de por exemplo, de um mês. Dentro das várias opções será possível eleger diariamente uma atividade sem recorrer à repetição. Este instrumento de trabalho permite que os idosos possam, também eles, recorrer ao baú de forma autónoma independentemente do incentivo do profissional.
No âmbito da dinâmica de grupo, destacamos as atividades intergeracionais entre idosos e crianças de várias idades. Na instituição em análise, este tipo de interação processa-se de forma efetiva, isto é, defende-se que o conceito intergeracional integre uma ligação efetiva entre as diferentes faixas etárias, de modo a colocar e envolver os seus intervenientes. Salientamos que através de atividades manuais foram concebidos objetos que envolveram os grupos de diferentes idades (aventais, painéis, mantas e xailes de histórias) Estes objetos associaram participantes mais velhos do Centro de Dia e crianças de diferentes respostas sociais. Destas destacam-se atividades como a celebração anual do livro infantil, na qual os mais velhos anualmente produzem uma história em vários formatos (diferentes do vulgar livro) de modo a partilhá-lo com as crianças, sobre a forma de música, de conto ensaiado ou outro. As referidas histórias têm por base o reportório já existente nas vivências dos utentes mais velhos, para que sejam simples de recordar e de contar às crianças. No que concerne aos aventais de
histórias, por exemplo, estes foram colocados por vários utentes, representando várias partes do cenário da história, e de dentro dos bolsos saíram vários objetos que surpreenderam as crianças e animaram o conto. Ainda no âmbito a intergeracionalidade, o exemplo experienciado no Centro de Dia em questão consiste num jogo de perguntas em que as equipas, são constituídas por idosos e crianças, e as questões são dirigidas, estrategicamente, de forma particular a um grupo ou a outro (temas mais dirigidos às crianças, outros aos idosos e outros transversais aos dois grupos) para que os mesmos tenham de se envolver entre si e entreajudar-se para conseguirem responder corretamente, e assim pontuar.
Apresentam-se seguidamente outras tipologias de jogos de grupo realizados no Centro e Dia em análise, servindo apenas de exemplo de atividades que podem ser desenvolvidas em regime de Centro de Dia (não obstante todas elas poderem e deverem ser ajustadas/adaptadas às particularidades do grupo de trabalho). Assim sendo, o jogo Carica ao Alvo consiste numa improvisação feita no chão com fita colorida e marcadores permanentes e não sendo mais do que uns conjuntos de quadrados que formam um alvo com características e regras específicas de jogar. Os participantes são distribuídos em torno do alvo e têm em sua posse caricas, rolhas de iogurtes (reciclagem) ou sacos de peso, 6 se for para jogar a solo ou 3 se for para jogar a pares. Devem jogar à vez com o objetivo de alcançar o máximo número de pontos possível, podendo acertar no 100 ao centro, nos cantos extra (cantos que dão direito a uma peça extra 20+, 30+ ou 70+) ou nos espaços em torno, que valem 50, 30, 20 e 10. No fim do lançamento de todas as peças a nível individual ou a pares, o(s) jogador (es) deve (m) proceder à soma dos pontos (os idosos que não conseguem são apoiados pelo grupo para efetuar os cálculos). Este jogo permite exercitar o cálculo, promover a coordenação de movimentos, trabalhar o controlo da força, promover a interação e acima de tudo descontrair e divertir as pessoas. No jogo apresentado anteriormente foi possível envolver também uma utente invisual, que conseguiu, através de adaptações, participar no jogo com os restantes participantes. Para que fosse possível a utente lançar a peça com o mínimo de orientação, basta que uma pessoa mova um guizo dentro da casa mais ao centro do alvo e a utente, através da forte acuidade sonora que tem, lança a peça na direção do som. Foi igualmente possível também uma utente em cadeira de rodas com limitações físicas (incapacitantes para a coordenação de lançar a peça) mas com muito potencial ao nível do cálculo. Sempre que algum participante apresenta dificuldades ao nível da realização de cálculos é auxiliado pelos participantes ou pelo dinamizador da atividade.
No que respeita ao jogo do Bingo começou inicialmente por ser jogado no Centro de Dia de forma clássica, com números, mas através do feedback dos participantes percebeu--se que as pessoas que se iam juntando ao grupo não conheciam os números e tinham muita dificuldade em acompanhar a atividade. Assim sendo, procedeu-se uma adaptação do jogo com imagens significativas, relacionadas com as vivências das pessoas, com a abordagem das cores através de “bandeiras” e dos números através de pontos negros tipo dominó (exemplo: carro de bois, motorizada, mula, cabra, bicicleta quadro de homem e de mulher, agulha e dedal, galo de Barcelos, bandeira de Portugal, galo, galinha,entre outros). No que respeita à construção do jogo na criação dos cartões deverá ter-se em conta a necessidade de os mesmos integrarem imagens grandes, definidas e relativamente fáceis de decifrar. No jogo os utentes encontram-se dispersos no espaço (incentivar as pessoas que precisam de aju

da a ficarem perto de pessoas mentalmente mais ágeis). Cada um tem um cartão com imagens à sua frente (20 por exemplo), caricas para tapar as imagens que vão saindo e ganha quem tapar o cartão todo com caricas e disser a palavra Bingo. Uma outra versão de jogo poderá associar sons às imagens e estimular também a função auditiva.

Seguidamente, apresentamos o jogo Virá´Lata pois é prazenteiro para a maioria dos idosos do Centro de Dia em questão, no entanto, este jogo na versão em lata torna-se muito ruidoso. Assim sendo, os utentes recrearam-no através da colocação de mangas com retalhos de tecido de forma a forrar as latas, tornando-as mais silenciosas no momento da queda, e formar uma grande “montanha” colorida. Para derrubar as latas foram costuradas bolas de trapos com meias e restos de tecido no interior.
O jogo Roleta da Corneta surge da adaptação de uma roleta simples, habitualmente usada nas festas da comunidade e transformada numa roleta colorida com o propósito lúdico de envolver e estimular qualquer pessoa independentemente da idade. Esta roleta consiste num jogo com, por exemplo 5, categorias que são colocadas no tabuleiro à medida que vão sendo escolhidas e jogadas (as categorias podem ser mais variadas, embora para os idosos se opte, por exemplo, por: adivinhas, palavras que dão música (palavras são ditas com o propósito das pessoas pensarem numa música com aquela palavra), cultura geral, provérbios, música falada (pequenos excertos de música são lidos para que as pessoas adivinhem qual a música e por quem é cantada), questões de cultura
(relacionadas com o distrito e concelho no qual o Centro de Dia está inserido), questões sobre imagens de cidades, monumentos ou personalidades.
Para além da componente do jogo a componente lúdica está presente na atividade Bola das Categorias e pode ser realizada com recurso a uma bola leve que é distribuída aos participantes organizados em formato de roda ou em duas filas frente a frente. A atividade realiza-se através de categorias que vão sendo pedidas de forma rápida e enérgica aos participantes. Exemplifica-se as categorias a trazer para o jogo: nome de quem está a passar o objeto, cidades, partes do corpo, peças de roupa, animais, cores, números, nomes femininos, nomes masculinos, nomes de familiares, vizinhos, produtos hortícolas, objetos, frutos, flores, aves, países, meios de transporte, ingredientes de receita culinária, entre outros. A esta dinâmica poderá ser associada música que, ao ser interrompida, indicará ao utente que tem a bola na mão a necessidade de responder à categoria em questão.
Em suma, através da panóplia de exemplos apresentados, previamente experienciados no Centro de Dia, podemos observar que, neste contexto, a simplicidade dos objetos usados e a criatividade dos profissionais permitem o fomento de dinâmicas de ocupação em Centro de Dia.
Considerações finais O Centro de Dia disponibiliza aos seus utentes uma multiplicidade de serviços, que na sua maioria permitem ao individuo a resolução de dificuldades na satisfação das atividades básicas de vida diária (alimentação e cuidados de higiene). A rotina diária dos utentes inclui o período de realização das atividades básicas deixando, no entanto, o utente com tempo livre que requer ocupação. Neste âmbito, a tutela prevê que a resposta social disponibilize aos seus utentes o serviço de convívio/ocupação (Bonfim & Saraiva, 1996). De acordo com autores anteriormente referenciados, as rotinas ocupacionais dos indivíduos mais velhos contribuem para que esta fase da vida seja satisfatória e produtiva. Destacamos, neste âmbito, o papel do Centro de Dia como prestador de serviços de ocupação/animação no mesmo nível de importância de outros serviços como sejam: refeições, cuidados de higiene, tratamento de roupa e férias organizadas. (Bonfim & Saraiva, 1996). Sendo esta temática tão complexa e volátil, partimos da experiência diária salientando as atividades bem-sucedidas resultantes de uma diversidade de outras que não resultaram.
Entendemos a planificação, execução e monitorização de atividades de ocupação para idosos em Centro de Dia como uma intervenção exigente e que necessita de um aperfeiçoamento constante por parte do profissional (pessoal e técnico) que as dirige, para além de uma preocupação séria, ao nível da qualidade, por parte da entidade prestadora do serviço. Deste modo, consideramos fundamental uma discussão sobre a temática pelos diversos intervenientes, sejam eles academia, entidades de tutela, instituições de apoio a idosos e profissionais.
Referências bibliográficas 1. Benet, A. S. (2002). La dinamización sociocultural en los centros de día para mayores. Nuevas perspectivas en el trabajo socioeducativo con personas mayores. Educación social. Revista d’intervención socioeducativa, (22), 97-110. 2. Bonfim, C. J. & Saraiva, M. E. (1996). Centro de Dia (Condições de localização, instalação e funcionamento). Lisboa: Direção Geral de Acção Social.