7 IGESTO ECONOMICO



Ros principais pontos de jornais no Brasil, ao preço de CrS 5,00. Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos a suprir qualquer encomenda, bem como a receber pedidos de assinaturas, ao preço de Cr$ 50.00 anuais.
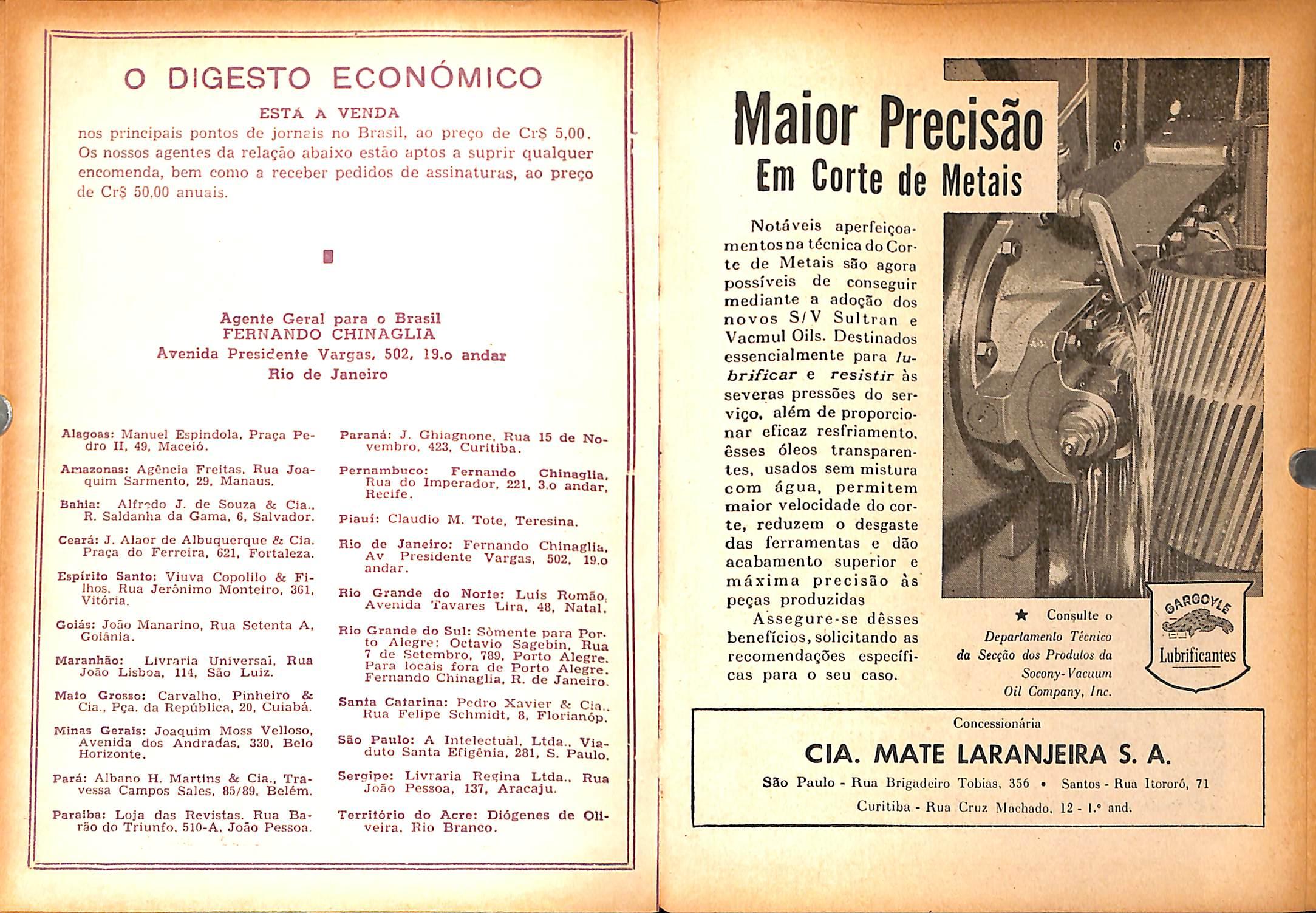
Agente Geral para o Brasil
Avenida Presidente Vargas, 502, 19.o andar
Rio de Janeiro
Alagoas: Manuel Espíndola. Praça Pe dro II, 49, Maceió.
Amazonas: Agência Freitas, Rua Joa quim Sarmento, 29. Manaus.
Bahia; Alfredo J. de Souza & Cia., R. Saldanha da Gama, 6, Salvador.
Ceará: J. Alaor de Albuquerque St Cia. Praça do Ferreira. 621, Fortaleza.
Espírito Santo; Viuva Copolilo & Fi lhos. Rua Jerónimo Monteiro, 361, Vitória.
Goiás: João Manarino, Rua Setenta A. Goiânia.
Maranhão: Livraria Universal. Rua João Lisboa. 114, São Luiz.
Mato Grosso: Carvalho, Pinheiro & Cia., Pça. da República, 20, Cuiabá.
Minas Gerais: Joaquim Moss Velloso, Avenida dos Andradas, 330, Belo Horizonte.
Pará: Albano H. Martins & Cia.. Tra vessa Campos Sales, 85/89, Belém.
Paraíba: Loja das Revista.s. Rua Ba rão do Triunfo. .IIO-A. João Pessoa
Paraná: J. Ghiagnono. Rua 15 de No vembro, 423. Curitiba.
Pernambuco: Fernando Chinaglla Rua do Imperador. 221, 3.o andar Recife. '
Piauí: Cláudio M. Tote. Teresina.
Rio do Janeiro; Fernando Chinaglla Av Presidente Vargas, 502. 19 o andar.
Rio Grande do Norie: Luís RornSo Avenida Tavares Uira. 48, Natal.
Rio Grande do Sul: Sòmcnte para Por to Alegro; Octavio Sagebin, Rua 7 do .Setembro, 789. Porto Alegre Para locais fora de Porto Alegre Fernando Chinaglia. R. de Janeiro"
Santa Catarina: Pedro Xavier & Cia Rua Felipe Schmidt, 8. Fiorianóp."
São Paulo: A Intcloctubl. Ltda., Via duto Santa Efigênia, 281, S. Paulo.
Sergipe: Livraria Regina Ltda.. Rua João Pessoa, 137, Aracaju.
Território do Acre: Diógenes de Oli veira. Rio Branco.
Notáveis aperfeiçoa
mentos na técnica doCortc de Metais s3o agora possíveis de conseguir mediante a adoção dos novos S/V SuUrun e Vacmul Oils. Destinados essencialmente para lubrificar e resistir às severas pressões do ser* viço, além de proporcio nar eficaz resfriamento, esses óleos transparen tes, usados sem mistura com água, permitem maior velocidade do cor te, reduzem o desgaste das ferramentas e dão acabamento superior e máxima precisão às peças produzidas
Assegure-se desses benefícios,solicitando as recomendações específi cas para o seu caso.
Consulte o
Deparlanwxio Tknico da .Secção dus Produtos da Socony- Vacaum Oil Company, Inc.
Concessioiiáriu
Lubrificantes
S8o pQulo - Rua Brigadeiro Tobias, 356 • Santos - Rua Itororó, 71
Curitiba - Rua Cruz Machado. 12 - l.® and.
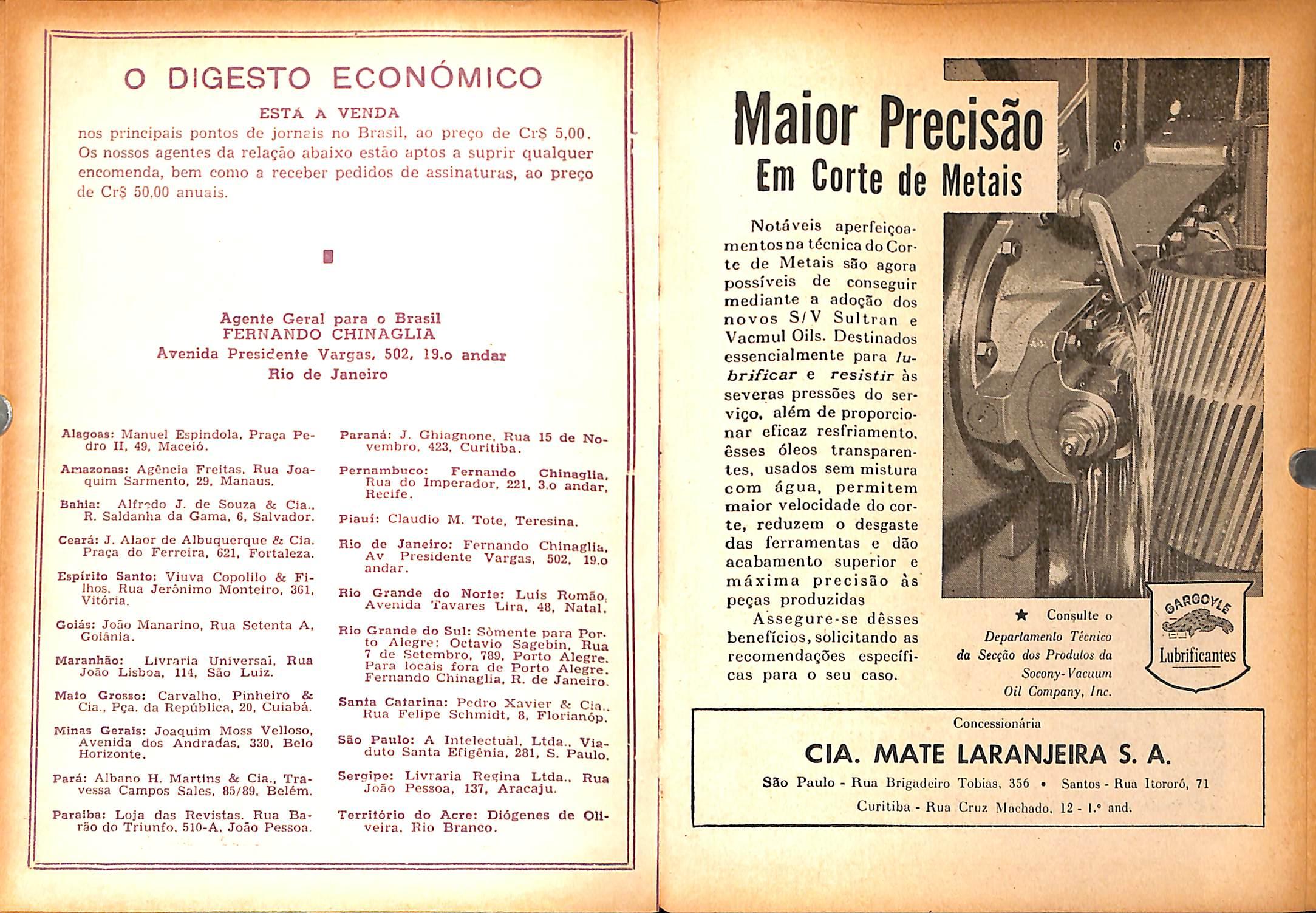

•V-'?Í^ ■/:':é''^^,,fá.i'>.9/, ''À■ í^<ííx4i••//■«•.;
AQU/ ESr/ o
Um simples botda garante nrilhares de cópias nítidas pelo
Pu*U-7ik,

Simt... No Pr/nf-fú, o faofõo pafenfeodo
o ar comprimido para enf/nfomenfo por ííí' #emo pneumtífíco é o garonho de mi/hares de cópias nítidas e uniformes de um mesmo síenc//. Alois do que um duplicador, Print-Fix electro-automáfico tem um pr/ncíp/o de funcionamenfo /n/e/romenfe novo que o forno umo verdadeira máquina im pressora para escritórios. Garantido por 5 anos. Peça-nos uma demonstração sem compromisso.
ÚNICOS IMPORTADORES t
SAO PAULO - Rua do Cormo, 29 • Lojo • T«li. 2-186é e 2-0526 RIO DE JANEIRO - Ruo Dtbret, 79 • A • Lo)o - Tel. 32^6?
C U R i T I O A • Rua 15 de Novembro, 575 • 3.* ■ Tel. 4183
BELO HORIZONTE - Av. Aíonjo Pena, 526- 11.? Tel- 2-1908

Cada máquina, em qualquer setor da indústria ou do agricultura, constitui sempre um problema dife rente de lubrificaçõo. Shell tem o maior prazer em orientar seus clientes na es colha do tipo de combustível ou iubrif cante in dicado paro cada coso.
S»d. 7037.A SHELL ^ EM PRODUTOS DE PETROLED» UMA TRAUICAO
está conquistando a prefe rencia de todas as donas de casa, o
utiliza as altas qualidades nutritivas do óleo de amendoim e a(fes<enta-)hes, gra das á refinarão e desodorizatão (ientifka, por um processo espe cial, um sabor tradicio nal de asrado ao paladar brasileiro. "Yandi" é extrema mente economico e de lacil digestão.
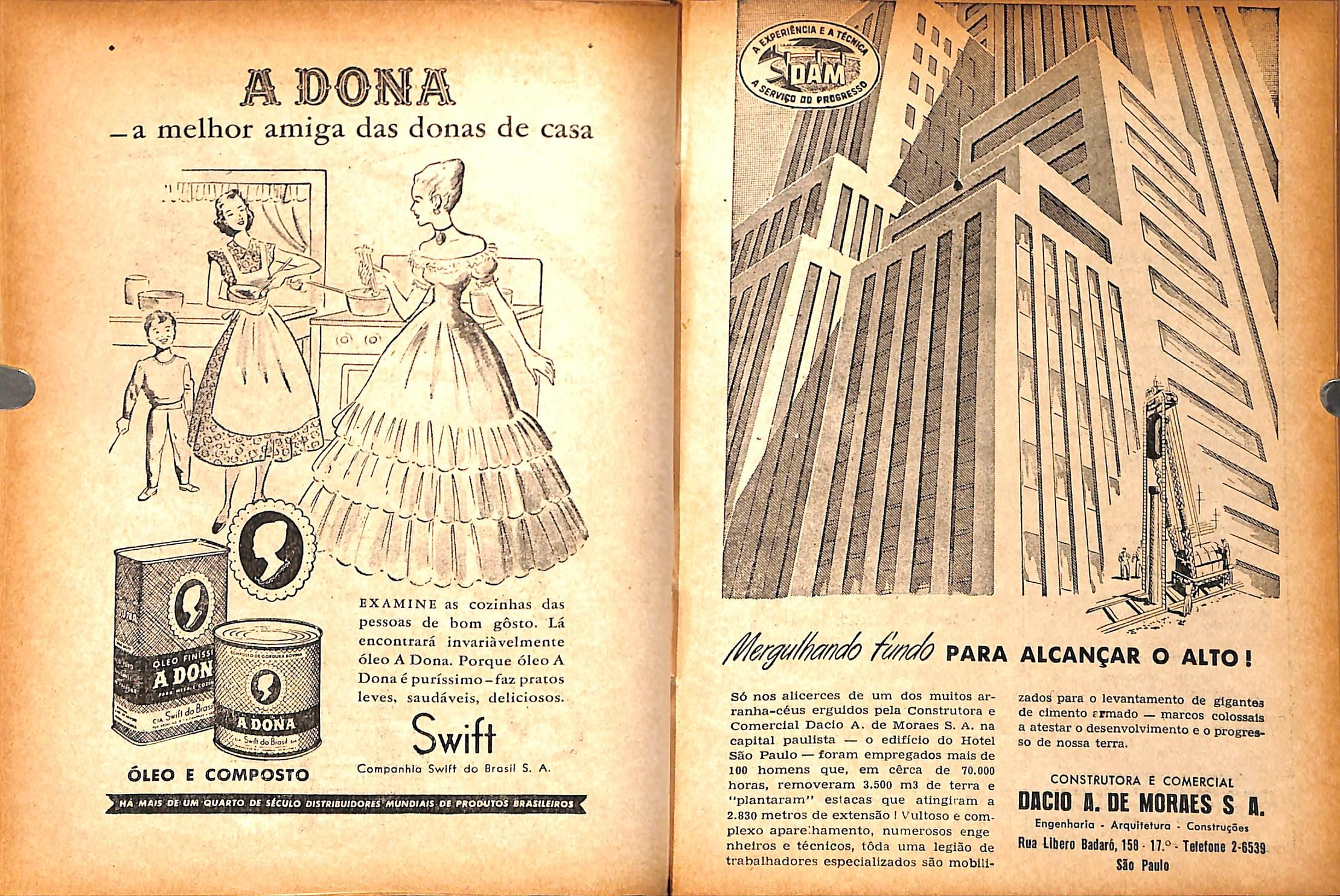
EXAMINE as cozinhas das pessoas de bom gosto. Xá encontrará invariàvelmente óleo A Dona. Porque óleo A Dona é puríssimo-faz pratos leves, saudáveis, deliciosos. OLEO E COMPOSTO
Só nos alicerces de um dos muitos ar ranha-céus erguidos pela Construtora e Comercial Dado A. de Moraes S. A. na capital paulista — o edifício do Hotel
São Paulo — foram empregados mais de 100 homens que, em cêrca de 70.000 horas, removeram 3.50o m3 de terra e "plantaram" estacas que atingiram a 2.830 metros de extensão 1 Vultoso e com plexo aparelhamento, numerosos enge nhelros e técnicos, toda uma legião de trabalhadores especializados são mobili
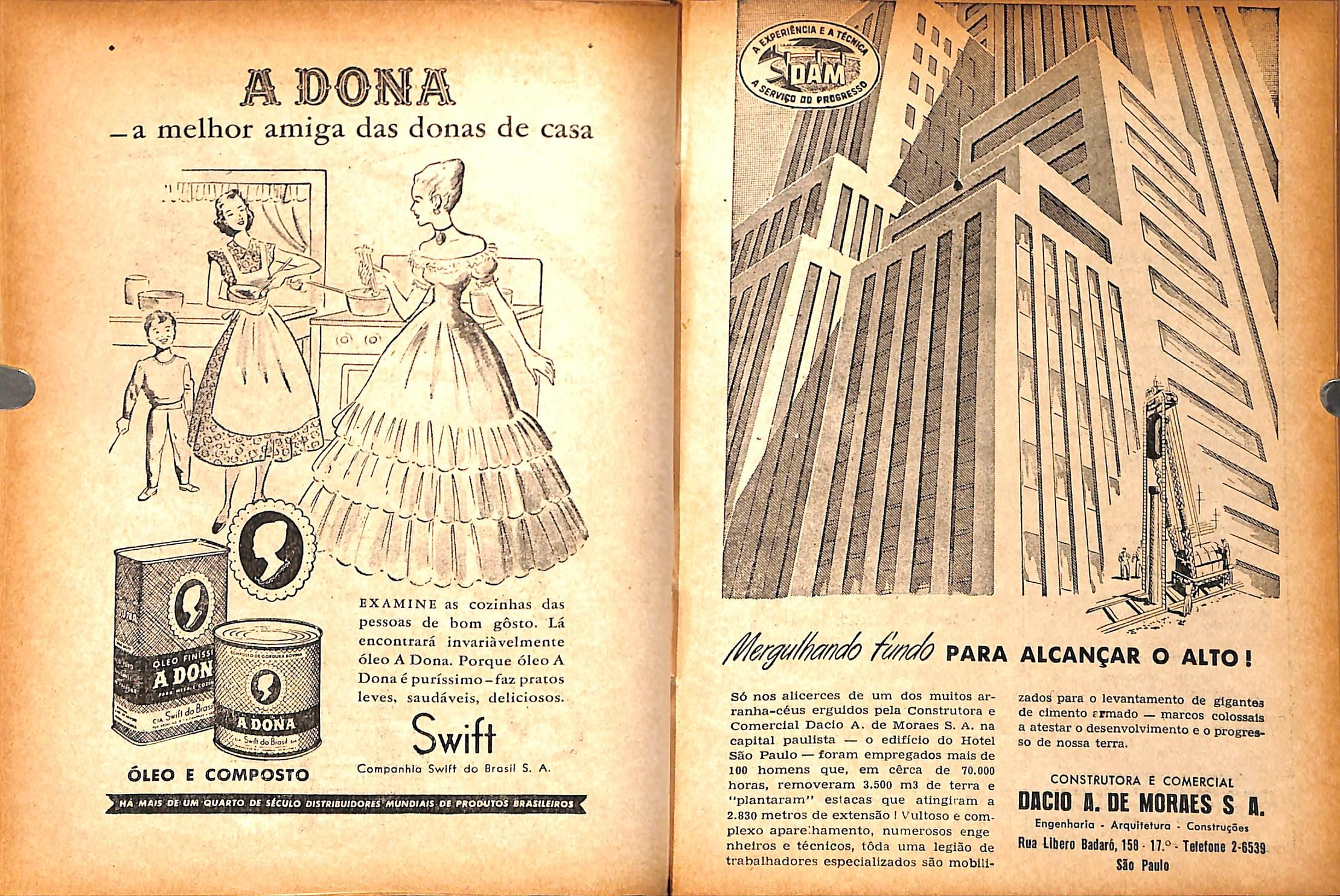
zados para o levantamento de gigantes de cimento rrmado — marcos colossais a atestar o desenvolvimento e o progres so de nossa terra.
Engenharia - Arquitetura - Con«tru;Se* Rua Libero Badarõ, 158 - U.""* Telefone 2-6539. S9q PduIo
I HUVOQ DDS MEGÚCIOS WIU riNORlIU HENSll
Pub/(cado (ob o( outprcio* do nSSOCIACtO COMERCIAIDE SAO PAULQ
ESTADO DE SAD FADLD
Diretor superintendente: Martlm Afíonso Xavier da Silveira
Diretor: Antonio Gontljo de Carvalho
Econômico, órgAo de Info^ções econômicas e financelíMUArf mensalmente pela Edltôra Comercial Ltda.
A dlreçfio nfio se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas, nem pelos conceitos emitidos em artigos assi nados.
Na transcilçao de artigos pede-se citar o nome do Dlgeste Econômico.
Aceita-se intercâmbio com publi cações congêneres nacionais e es trangeiras.
ASSINATURAS: Dlgesto Econômico
Ano (simples)
" - (registrado)
Número do mês:
Atrasado:
CrS 50,00
Cr? 58,00
Cr$ 5,00
Cr§ 8,00
Redação e Administração:
Viadato Boa Vlsla, t7 - 7.o andar
TeL S-7489 — Caixa Postal, 140-B
Sfto Paulo
O Dlgesto Econômico publicará no próximo número:
METAFÍSICA DA ECONOMIA PO LÍTICA LIBERAL - Ivan Lins. ^'
HISTÓRIA ECONÔMICA - Afonso Arinos de Melo Franco.
O TRATADO DE METHUEN - Nelson Wemeck Sodré.
O PROBLEMA DA INDUSTRIALIZAÇAO NO BRASIL - Dorival Teixeira Vieira.
TEMAS E PROBLEMAS EM DEBATE — Darlo de Almeida Magalhães


O "Digesto Econômico" insere, na ínte gra, em suas colunas, a brilhante oração que o sr. Décio- Ferraz Novais proferiu na Assembléia Geral da Associação Co mercial de São Pau'o, da qual é digno presidente. Trata-se de um documente de suma .importância, no. qual ventila magnos problemas que vem afetan do as atividades das classes produtoras do Brasil
sANDO cumprímento a disposição estatutária, é-nos imensamente grato trazer " 00 conhecimento dos senhores associados um pequeno relatório dos trabalhos da Associação Comercial neste primeiro período de nosso mandato. Ao assumirmos a presidência desta Casa, não desconhecíamos as dijicnldades de nossa missão; ao contrário, acentuamos, então, a e.xcepcional gravidade do mo mento que atravessamos e onde teríamos de atuar. Na realidade — além dos pro blemas internacionais, ingratos e difíceis, decorrentes do após-guerra — tínhamos nós no Brasil, os determinados pela readaptação do País ao regtm? democrático, após quinze anos de ditadura. As questões internacionais, de per si tão sérias, estão assim entre tiós, extraordinàrianvínte agravadas pelos nossos problemas internos. Se o seu estudo e solução competem ao Gouerno, ceiio é tanwém que às classes produtoras cumpre acompanhar a ação governamental, cooperando no sentido de tornar a sua obra mais justa e eficaz. _ ,
Muitas foram as nossas lutas; vartas as vttortas conseguidas. As derrotas foram recebidas como lições e estímulo para uma ação cada vez mais ativa e eficiente e. jamais como motivo para desânimo ou desaJ.ento.
Não contasse esta presidência com a colaboração diutuma e eficiente dos ad miráveis companheiros que tem ela a ventura de possuir, e, por certo, pouca coisa de útil e proveitoso poderia ter sido feito.
A êsses inexcedíveis companheiros, aos senhores conselheiros, que sempre nos honraram com seu apoio e orientação e, finalmente, ao comércio paulista, de quem temos recebido inequívocas provas de aplauso e incentivo, aqui deixamos consig nados os nossos mais sinceros agradecimentos.
Cumpre-nos ainda consignar aqui — e o fazemos prazeirosamente — a nossa Gratidão àqueles que, na superintendência de Uííríos Dcpartanxentos ou nas Comis sões Permanentes contribuíram com a sua inteligência, trabalho e dedicação, para o êxito de nossa administração. Nossos agradecimentos são extensivos aos membros da Diretoria da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, todos devotados à causa que, juntos, defendemos, e que colaboraram tão estreitamente conosco na tarefa ate aqui realizada.

Antes de pormenorizar, capítulo por capítulo, a atuação desenvolvida durante o ano de 1948, é oportuno acentuar que a.s nossas diretrizes nuiiores foram aquelas mesmas, elevadas e pairióticas, tradicionalmente observadas por quantos ttvcram a ventura de merecer dos produtores paulistas esta desvanecedora, mas espiunosa tn. vestidura, e que se resumem, por um lado, em contrilmir com o seu trabalho para o desenvolvimento da riqueza nacional, dentro dos mais relevantes interesses da co. letividade, e, por outro lado, em concorrer para a defesa dos objetivos de nossa classe, através de uma constante e cada vez inais ampla prestação de serviços.
Fiéis a essa linha de conduta, não distinguimos entre os emvreendimentos vuU tosos e as iniciativas modestas a que se dedicam os homens do comércio. Ví^oiií/q todos a uma finalidade comum, consubstanciada na circxdação da riqueza, gruru des e pequenos comerciantes têm sido igiuãmente merecedores da assistência técnica e da solidariedade da nossa agremiação. Não poucos vêzes, de resto, a numerosa grei dos varejistas tem sido alvo de nossas vistas especiais. O contado direto, qu^ permanentemente nuintêm com o consumidor, a fim de proporcionar à poputaçfm necessidade, faz que a êles se atribua a responsa, btltdade pela carência de artigos ou pela elevação de seus preços, uma e outra rcu sultantes, na verdade, de fenômenos de mais fundo, fora, portanto, da percepção do consumidor Çomum Nao nos temos poupado no afã de resguardá-los dos juízos avress^os e injustos de que eles sao vítimas; reconhecemos, entretanto, a urgência de intensificar a obra de educação e esclarecimento popular acêrca da função do intermediário. A Associação Comercial de São Paulo, cúpula do sistema de orga. nizaçao de nossa classe, não pode esquecer-se, jamais, de nenhum de seus elementos por discreto que seja o seu trabalho.
A reaçao psicológica do consumidor perante os seus fornecedores é, porétn. apenas um dos aspectos da conjuntura, cheia de dificuldades opostas aos produtores
O qt^ro geral^
£ épto
revela hoje alguns daqueles trrH:os que nanctstas da Primeira Republica nos mostraram em documentos notáveis para ca e que em muitos pontos aguardam ainda retoque.
Na luta em prol da mélho^ do padrão de vida, através do aperfeiço<imentn mecânico da lavoura, de uma balança comercial equilibrada e da con.solidação da indústria nacional, continuamos junjidos ^ ' . , „ , j r- • ít A n 'T 7, àquele espírito de incompreensão que Uurttnho tao bem definiu: A Republica não pode ser um misto híbrido de liberdade política e de despotismo econômico
Aos erros aoumulados no passado vieram somar-se, em nossos dias, os noo„, o graves problemas decorrentes da cruse econámico-social que explodiu nas du grandes guerras que a fatalidade impôs à nossa geração as --g- ™ definitivo ésse desequili. brio exclusivamente por nossos prónrios .
reestruturamos em bases democráticas a nossa organização política. Apresentando embora defeitos, que antes traduzem ine.xperiência do que incapacidade da nossa gen. te para a prática do regime em que reingrcssornos em boa hora, a vida constituciO' nal do País inegàcelmente nos descortina um ambiente de otimismo e esperanças. Prossigatn as classes produtoras no seu de pósito de debater com os governantes as magnas questões econômicas nacionais, pro curem esclarecer governados a respeito do que eni verdade interessa à criação da ri queza brasileira — e terão elas cumprido boa parte do que lhes toca na grande ta refa.
A licença-prévia é o resultado do desofustamento internacional, provocado pelos problemas do após-guerra. E' regime in teiramente contrário aos princípios e ao interêsse da classe comercial, cuja prosperida,. de sempre se baseou na liberdade de comér. cio quer interna, quer externamente. Re- ' conhecemos, todavia, que ao govêrno não cabe outra alternativa senão disciplinai as nossas irnportações, orientando-as quanto à sua natureza e diminuindo-as quando preciso a fim de serem evitadas, no futuro, situações de maior gravidade; que não e o problema brasileiro, mas sim de tôdas as nações do Continente; prova-o o fato de somente dois países da América não terem ainda adotado êsse sistema de i regular o comércio internacional. j
Cumpre acrescentar, aliás, que êsse regime de trocas internacionais seria | de outra forma estabelecido, quando não pelo sistema de licença-prévia, por decor- \ rência de estudos e acordos internacionais. Tanto os planos de White ou de Keynes. quanto o acordo de Bretton Woods, previam um intercâmbio internacional está- \ vel e equilibrado, de tal sorte que um eventual desajustamento no comércio dai nações seria passível de correção, que determinasse novamente o equilíbrio da balartça comercial entre os países. Forçosamente, implicaria essa correção em atri buir ao livre comércio restrições que são hoje realizadas por fôrça das licençasprévias, em quase todos os países do mundo. .
Se' o mal é necessário, tornemo-lo o menos danoso possível. , Seria indispensável que se estabelecessem normas seguras para a aplicação do regime, de tal sorte que, sem prejuízo da flexibilidade inerente ao sistema, | se afaste a influência de naturais deficiências humanas. [ Indispensável também seria que só fóssem concedidas licenças, quando asse gurado o respectivo câmbio. Evitar-se-iam, dessa forma, uma evasão não dese. j fada de divisas e uma especulação, provocada pela necessidade do aproveitamen to de licenças deferidas, sem a contra-partida cia prévia outorga do câmbio. Não \

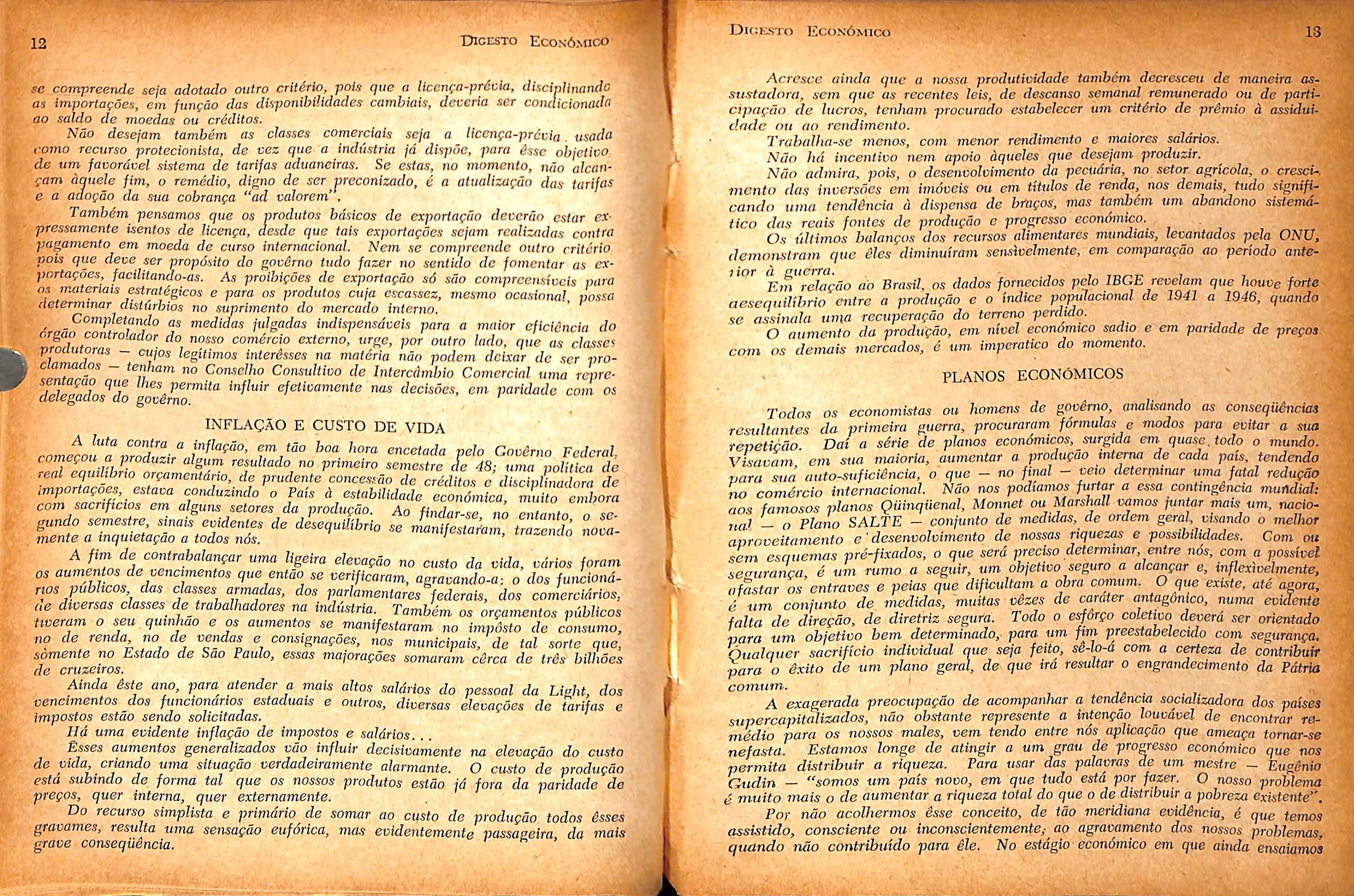
se com-preende seja adotado outro critério, pois que a liccnço-prôoia, disciplinnndc as importações, em função das disponibilidades cambiais, deveria ser condicionada ao saldo de moedas ou créditos.
Não desejam também as classes comerciais seja a licença-prcvia usada cojno recurso protecionista, de vez que a indústria já dis^iõe, para êssc objetivo de um favorável sistema de tarifas aduaneiras. Se estas, no momento, não alcan çam àquele fim, o remédio, digno de ser preconizado, é a atualização das tarifas e a adoção da sua cobrança "ad valorem'.
Também pensamos que os produtos básicos de exportação deverão estar ex pressamente isentos de licença, aesdc que tais exportações sejam realizadas contra pagamento em moeda de curso internacional. Nem se compreende outro critério pois que deve ser propósito do govôrno tudo fazer uo sentido de fomentar as ex portações, facilitando-as. As proibições de exportação só são comprcen.sívcis para ns materiais estratégicos e para os produtos cuja esca-isez, mesmo ocasional vossa determinar distúrbios no suprimento do mercado interno.
^ Completando as medidas julgadas indispensáveis para a maior eficiência do crgao controlador do nosso comércio externo, urge, por outro lado, que as classe< produtoras - cujos legítimos interêsses na matéria não podem deixar de ser pro-
Con.se//jo Considtivo de Intercâmbio Comercial uma retiredelegados^do ovêrno^^^^ efetivamente nas decisões, em paridade com 06
começou a vr7dZr° encetada pelo Govêrno Federal começou a produzir algum resultado no primeiro semestre de 48- uma volíiica de
nm SSíofír coruZuzindo o Pais à estabilidade econômica, muito embora com sacrifícios em alguns setores da produção. Ao findar-se no entanto o se- gundo semestre nnms cmdcntes de desequilíbrio se rLnifcsiamm, trazcndi noZ. mente a inquietação a todos nós. ' '
A fim de contrabalançar uma ligeira elevação no custo da vida. vários foram os aumentos de vencimentos que então se verificaram, agravando-a-. o dos funcionános publicas das classes armadas, dos parlamentares federais, dos comerciários, ae diversas classes de trabalhadores na indústria. Também os orçamentos públicos tiveram o seu quinhão e os aumentos se manifestaram no imposto de consumo, no de renda no cie vendas e consignações, nos municipais, de tal sorte que, somente no Estado de bao Paulo, essas majorações somaram côrca de três bilhões de cruzeiros.
Ainda êste ano, para atender a mais altos salários do pessoal da Liglit, dos vencimentos dos funcionários estaduais e outros, diversas elevações de tarifas e impostos estão sendo solicitadas.
Há uma evidente inflação de impostos e salários.
Êsses aumentos generalizados vão influir decisivamente na elevação do custo de vida, criando uma situação verdadeiramente alarmante. O custo de produção está subindo de forma tal que os nossos produtos estão já fora da paridade de preços, quer interna, quer externamente.
Do recurso simplista e primário de somar ao custo de produção todos êsses gravames, resulta uma sensação eufórica, mas evidentemente passapeira da rnais grave conseqüência.
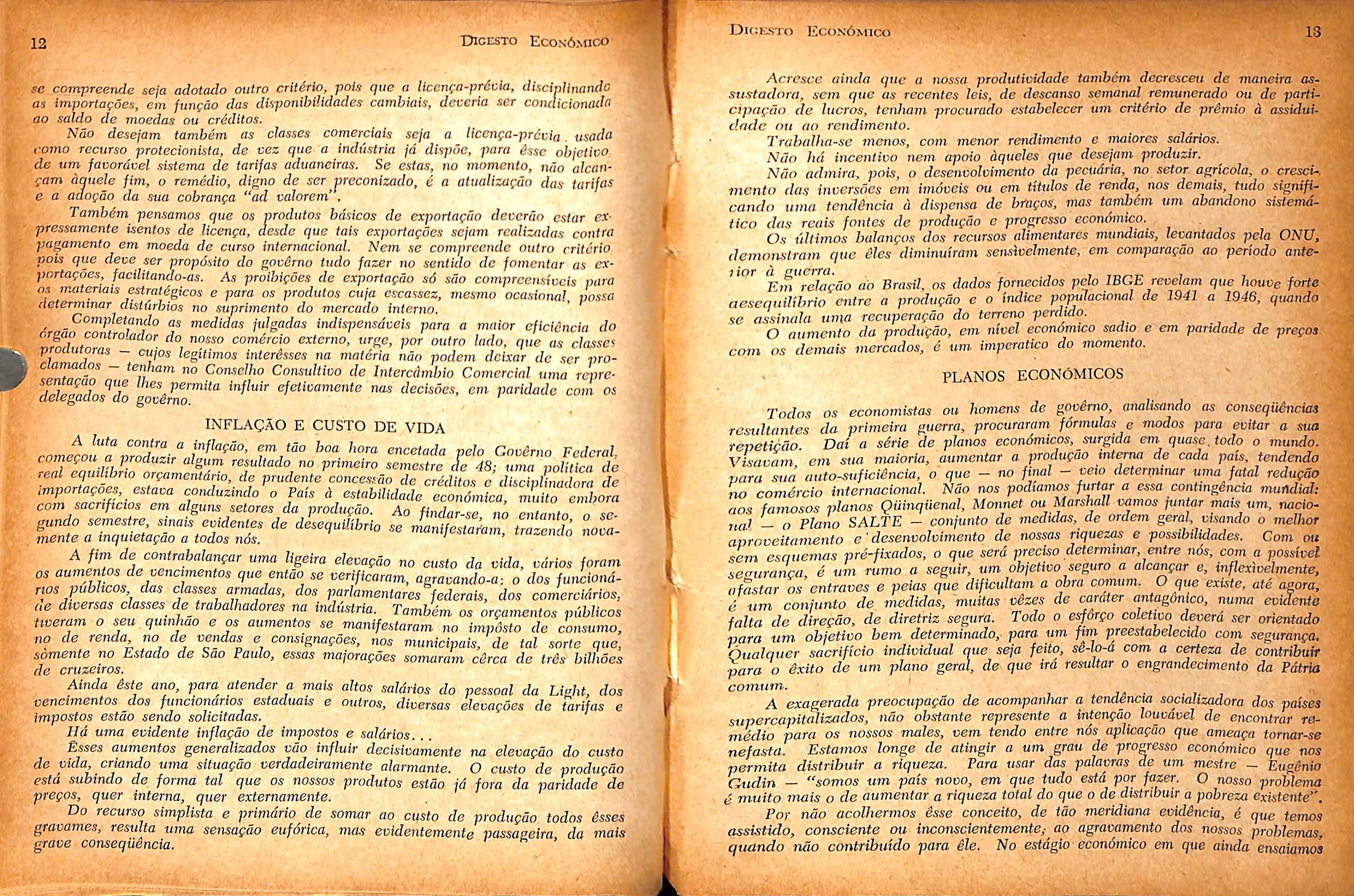
Acresce ainda que a nossa produtividade também decresceu de maneira as sustadora, sem que as recentes leis, de descanso semaiud remunerado ou de parti cipação de lucros, tenham procurado estabelecer um critério de prêmio ò assidui dade ou ao rendimento.
Trahalha-se menos, com menor rendimento c maiores salários.
Não há incentivo nem apoio àqueles que desejam produzir.
Não admira, pois, o desenvolvimento da pecuária, no setor agrícola, o crescU. mento das inversões cm imóveis ou em títulos de renda, nos demais, tudo signifi cando uma tendência à dispensa de braços, mas também um abandono sistemá tico das reais fontes de produção e progresso econômico.
Os últimos balanços dos recursos aJimentores mundiais, levantados pela ONU, demonstram que êles diminuíram sensivelmente, em comparação ao período ante-
Etn relação ao Brasil, os dados fornecidos pelo IBGE revelam que hotwe forte aesequilíbrio entre a produção e o índice pojndacionol de 2941 a 1946, quando se assinala uma recuperação do terreno perdtdo.
O aumento da produção, em nível economico sadio e em paridade de preços com os demais mercados, é um imperatico do momento.
Todos os economistas ou homens de govêrno, analisando as conseqüências restãtantes da primeira guerra, procuraram fórmulas e modos para evitar a sua renetição. Daí a série de planos econômicos, surgida em quase, todo o mundo. Visavam em sua maioria, aumentar a produção mfmw de cada país, tendendo para sua. auto-suficiência, o que - no final - veio determinar uma fatal redução no comércio internacional. Não nos podíamos furtar a essa contingência mundial: aos farnosos planos Qüinqüenal, Monnet ou Marshall vamos juntar mais um, nacional — o Plano SALTE — conjunto de medidas, de ordem geral, visando o melhor aoroveitaniento e'desenvolvinwnto de nossas riquezas e possibilidades. Com ou • cfyr/, t-iríjrim detRTminaT. mtre nnv ^ aproveitamenio e - ^ - - r ui. sem esquemas pré-fixados, o que sera preciso determinar, entre nos, com a possível segurança é um rumo a seguir, um objetivo seguro a alcançar e, inflexivehnente, n.i'entraves e peias que dificultam a obra comum. O que existe, até agora. afastar os'entraves e peias que dificultam a obra comum. O que existe, até agora, é um conjunto de medidas, muitas vêzes de caroter antagônico, numa evidente falta de direção, de diretriz segura. Todo o esforço coieítuo deverá ser orientado ■falta oe aireçuu, - - , . 7 , , , para um objetivo bem determinado, para um pm preestabelectdo com segurança, Óualquer sacrifício individual que seja feito, sê-lo-á com a certeza de contribuir para o êxito de um plano geral, de que irá resultar o engrandecimento da Pátria comum.
A exagerada preocupação de acompanhar a tendência sociaiizadora dos países supercapitalizados, não obstante represente a intenção louvável de encontrar re médio para os nossos males, vem tendo entre nós aplicação que ameaça tornar-se nefasta. Estamos longe de atingir o um grau de progresso econômico que nos permita distribuir a riqueza. Para usar das palavras de um mestre ~ Eugênio Gudin — "somos um país novo, em que tudo está por fazer. O nosso problema é muito mais o de aumentar a riqueza total do que o de distribuir a pobreza existente". Por não acolhermos esse conceito, de tão meridiana evidência, é que temos assistido, consciente ou inconscientemente^ ao agravamento dos nossos problemas quando não contribuído para êle. No estágio econômico em que ainda ensaiamos
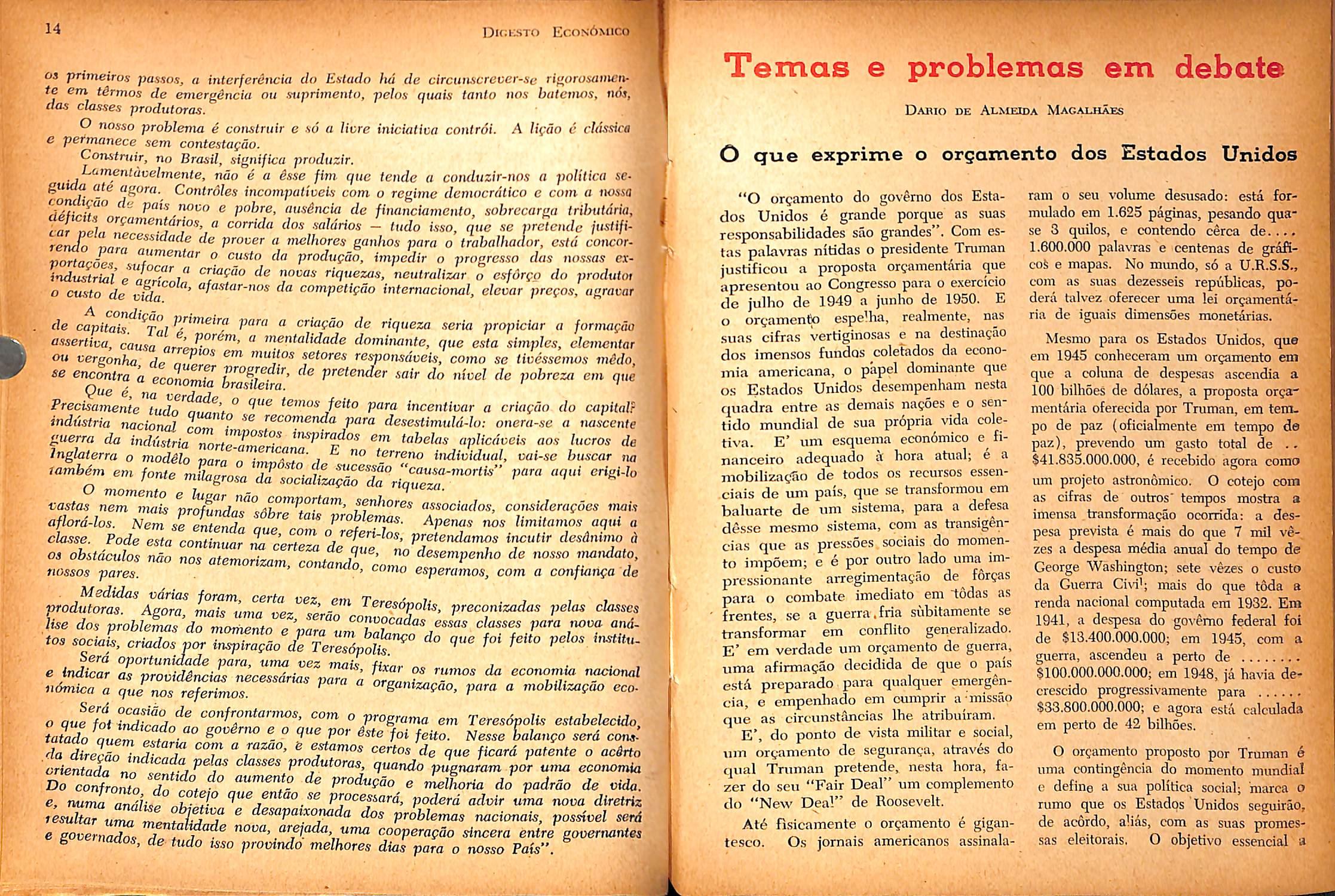
os prúneirus passos, a interferência do Estado há de circunscrevcr-se rioorosanwn' te em têrmos de emergência ou suprimento, pelos qttais tanto nos batemos, n<ij, das classes produtoras.
O nosso problema é construir e só a Vwre iniciativa contrói. A lição c clássica C T^BTfnClriGC/? e permanece sem contestação.
Construir, no Brasil, significa produzir.
Lomeniàvelmente, não é a êsse fim que tende a coiuiuzir-nos a política se guida ate agora. Conlróles incompatíveis com o regime democrático e com a nossa
f' <3 pobre, ausência de financiamento, sobrecarga tributária, car npJ corrida dos salários — tudo isso, que se pretende justifirenJo " áe prover a melhores ganhos para o trabalhador, está concorportaçôes" O custo da produção, impedir o progresso das nossos exindustrial eaarí"^i" novas riquezas, neutralizar o esforço do produtoi o custo de vkla^^ competição íníernociono/, elevar preços, agravar de capitais. ^ criação de riqueza seria propiciar a formação assertiva, causa arroJ!/^^ '° ^"^^"^^H^ade dominante, que esta simples, elementar oti vergonha dp nVi, ^ "íuiíos setores re^wnsáveis, como se tivéssemos mêdo, se encontra a ecmomia bwMe pretender sair do nível de pobreza em que
Precisamente ^ temos feito para fnconftuor a criação do capitaU indústria nacional ^ recomenda para desestimulá-lo: onera-se a tioscenfe guerra da indiisiria nortp-nmpro- tabelas aplicáveis aos lucros de Inglaterra o modêlo nnm • terreno individual, vai-se buscar na
"""
vastas nem mais senJiores associados, consiVZeropões niaís aflorá-los. Nemse JntenZ n ' Apenas nos limitamos aqui a classe. Pode esta continuar ^ ceZZde qZZ no^^^^^^ produtoras. Agom rmts^úmT^oez^sè ™ "^'^'"ttópolis, preconizadas pelas dasscs iise dos vroMeZ:-dT:.j:í^L^%ZZ:''lZto'd'''^' classes pala nooa and. tos sociais, criados vor inspiração dl TelZópolt^ ^ ^ ""
Sera oportunidade para, uma vez rruiis iimr «« i • i , e indicar as providências necessárias pTa a oZLZ" economm nacional nómica a que nos referimos. ^ orgamzaçao, pata a mobilização ecoo que foi confrontai mos, com o programa em Teresópolís estabelecido mado aulm plfp Nesse Llanço será W da ZelTo iJ 7 ^ 5^<^mos certos de que ficará patente o acôrto orientai projinforos, quando pdgnaram por uma economia nTlltaZ dTtJ" P^^dução^ e Seria do padrão de vida. e, numa análhto u- 7 uo se processará, poderá advir uma nova diretriz resultar ul^ mentnlTri ^ desapaixomda dos problemas nacionais, posável será e soverS. ^ova, arepda uma cooperação sincera entre governantes « g vernados, de- tudo mo provindo melhores dias para o nosso Pais".
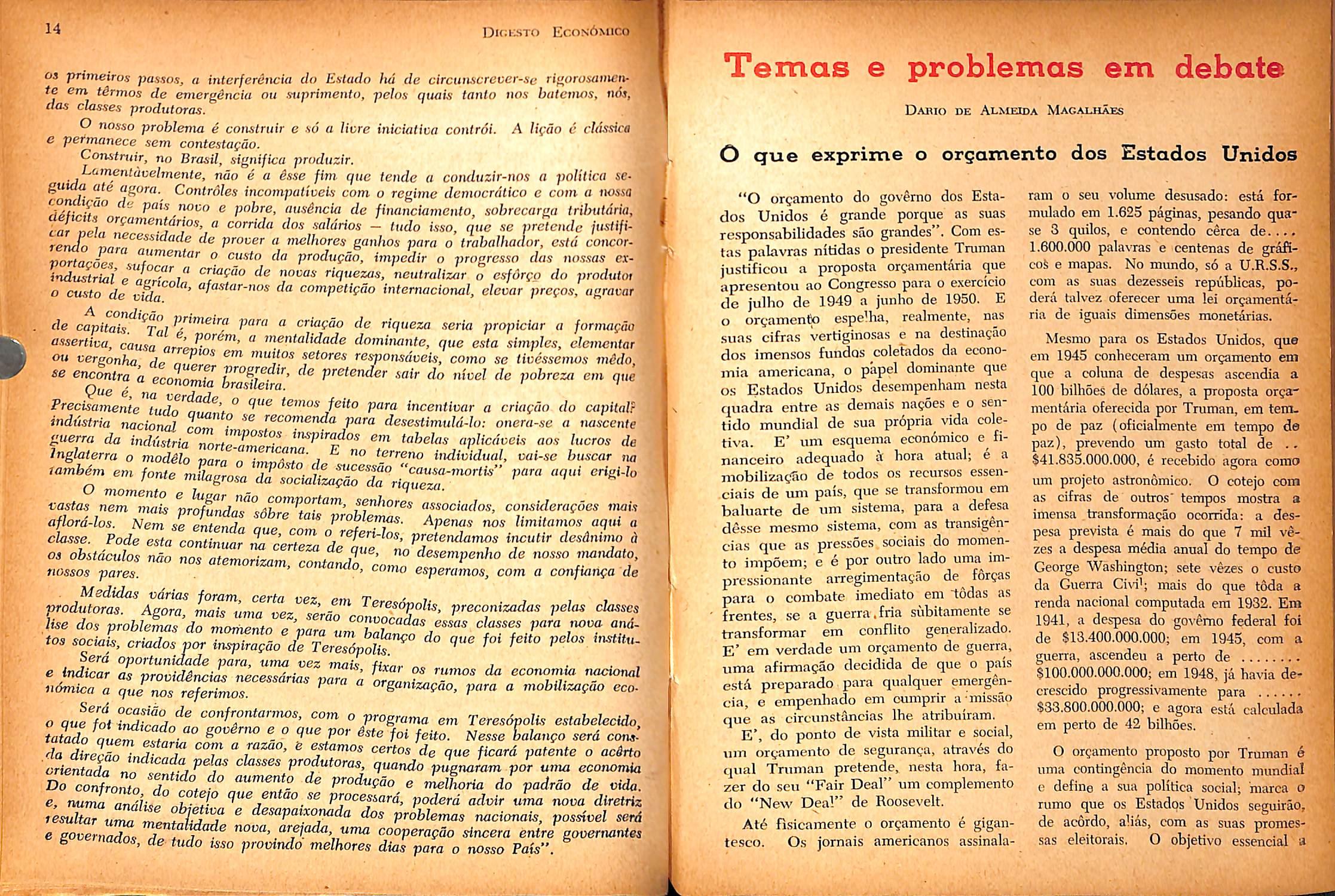
"O orçamento do govêrno dos Esta dos Unidos é grande porque as suas responsabilidades são grandes". Com es tas palavras nítidas o presidente Truman justificou a proposta orçamentaria que apresentou ao Congresso para o exercício de julho de 1949 a junho de 1950. E o orçamento espelha, realmente, nas suas cifras vertiginosas e na destinação dos imensos fundos coletados da econo mia americana, o papel dominante que os Estados Unidos desempenham nesta c^uadra entre as demais nações e o sen tido mundial de sua própria vida cole tiva. E' um esquema econômico e fi nanceiro adequado ã hora atual; é a mobilização de todos os recursos essen ciais de um país, que se transformou em baluarte de um sistema, para a defesa desse mesmo sistema, com as transigências que as pressões sociais do momen to impõem; e é por outro lado uma im pressionante arregimentação de^ forças para o combate imediato em todas as frentes, se a guerra.fria subitamente se transformar em conflito generalizado. E' em verdade um orçamento de guerra, uma afirmação decidida de que o país está preparado para qualquer emergên cia, e empenhado em cumprir a-missão que as circunstâncias lhe atribuíram, E', do ponto de vista militar e social, um orçamento de segurança, através do qual Truman pretende, nesta hora, fa zer do seu "Fair Deal" um complemento do "New Deal" de Roosevelt.
Até fisicamente o orçamento é gigan tesco. O.S jornais americanos assinala-
ram o seu volume desusado: está for mulado em 1.625 páginas, pesando qua se 3 quilos, e contendo cêrca de.... 1.600.000 palavras e centenas de gráfi cos e mapas. No mundo, só a U.R.S.S., com as suas dezesseis repúblicas, po derá talvez oferecer uma lei orçamentá ria de iguais dimensões monetárias.
Mesmo para os Estados Unidos, que em 1945 conheceram um orçamento em que a coluna de despesas ascendia a 100 bilhões de dólares, a proposta orça mentária oferecida por Truman, em tem po de paz (oficialmente em tempo de paz), prevendo um gasto total de .. S41.835.000.000, é recebido agora como um projeto astronômico. O cotejo com as cifras de outros" tempos mostra a imensa transformação ocorrida: a des pesa prevista é mais do que 7 mil ve zes a despesa média anual do tempo de George Washington; sete vezes o custo da Guerra Cii-ih mais do que toda a renda nacional computada em 1932. Em 1941, a despesa do governo federal foi de S13.400.000.000; em 1945, com a guerra, ascendeu a perto de $100.000.000.000; em 1948, já havia decrescido progressivamente para S33.800.000.000; e agora está calculada em perto de 42 bilhões.
O orçamento proposto por Truman e uma contingência do momento mundial e define a sua política social; marca o rumo que os Estados Unidos seguirão, de acôrdo, aliás, com as suas promes sas eleitorais. O objetivo essencial a
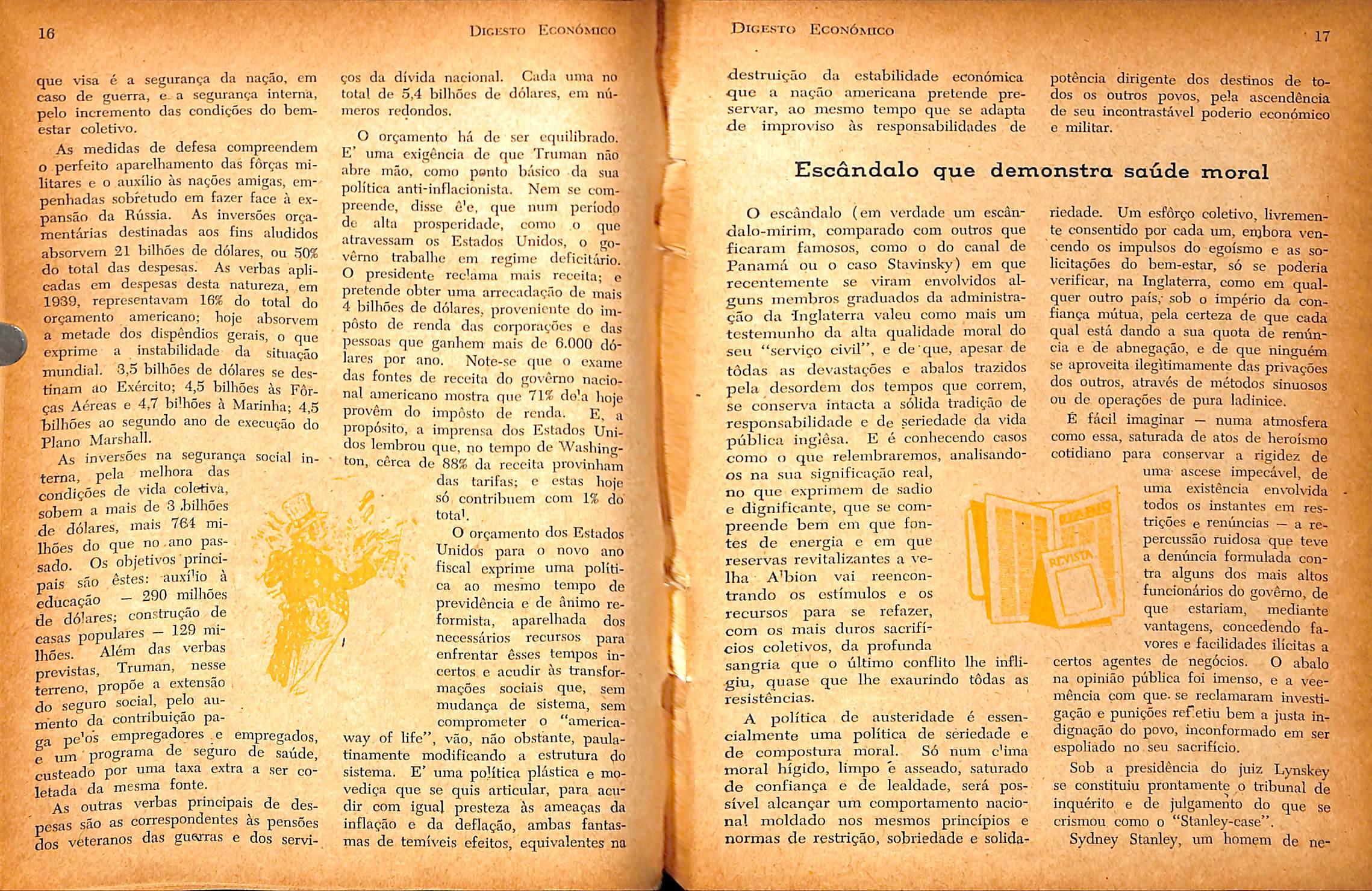
Ique visa é a segurança da nação, em caso de guerra, e. a segurança interna, pelo incremento das condições do bemestar coletivo.
As medidas de defesa compreendem o perfeito aparelbamento das forças mi litares e o auxílio às nações amigas, em penhadas sobretudo em fazer face à ex pansão da Rússia. As inversões orça mentárias destinadas aos fins aludidos absorvem 21 bilhões de dólares, ou 50% do total das despesas. As verbas apli cadas em despesas desta natureza, em 1939, representavam 16% do total do orçamento americano; hoje absorvem a metade dos dispêndios gerais, o que exprime a instabilidade da situação mundial. 3,5 bilhões de dólares se des tinam ao Exército; 4,5 bilhões às Fôrças Aéreas e 4,7 bilhões à Marinha; 4,5 1)1111065 ao segundo ano de execução do Plano Marshall.
As inversões na segurança social in terna, pela melhora das condições de vida coletiva, sobem a mais de 3.bilhões , • de dólares, mais 764 mi- , , Ihõcs do que no-ano pas sado. Os objetivos pnncimis são estes: -auxiho a educação - 290 milhões de dólares; constniçao de casas populares - 129 mi lhões. Além das verbas previstas, Truman, nesse , ' terreno, propõe a extensão , do seguro social, pelo aumento da contribuição pa ga pe'os empregadores .e empregados, e um programa de seguro de saúde, custeado por uma taxa extra a ser co letada da mesma fonte.
As outras verbas principais de des pesas são as correspondentes às pensões dos veteranos das guerras e dos servi
ços da dívida nacitinal. Cada uma no total dcí 5,4 bilhões de dólares, em nú meros redondos.
O orçamento há do ser equilibrado. E' uma cxigôncia de que Truman não abre mão, como ponto básico da sua política anti-inflacionista. Nem .se com preendo, di.ssc é'e, que mim período de alta prosperidade, como o que atravessam os Estados Unidos, o go verno trabalhe em regime deficitário. 0 presidente reclama mais receita; e pretende obter uma arrecadação dc mais 4 bilhões de dólares, proveniente do im posto dc renda das corporações e das pessoas que ganhem mais de 6.000 dó lares por ano. Note-se que o exame das fontes de receita do govêmo nacio nal americano mostra que 71% do'a lioje provêm do imposto de renda. E. a propósito, a imprensa dos Estados Uni dos lembrou que, no tempo de Washing ton, cerca de 88% da receita provinham das tarifas; e estas hoje só contribuem com 1% do , tola'.
/:
, O orçamento dos Estados .• ; ■ . Unidos para o novo ano fiscal exprime uma política ao mesmo tempo de previdência e de animo re^ formista, aparelhada dos 1 necessários recursos para enfrentar êsses tempos in certos e acudir às transfor mações sociais que, sem mudança de sistema, sem comprometer o "americaway of life", vão, não obstante, paula tinamente modificando a estrutura do sistema. E' uma política plástica e mo vediça que se quis articular, para acu dir com igual presteza às ameaças da inflação e da deflação, ambas fantas mas de temíveis efeitos, equivalentes na
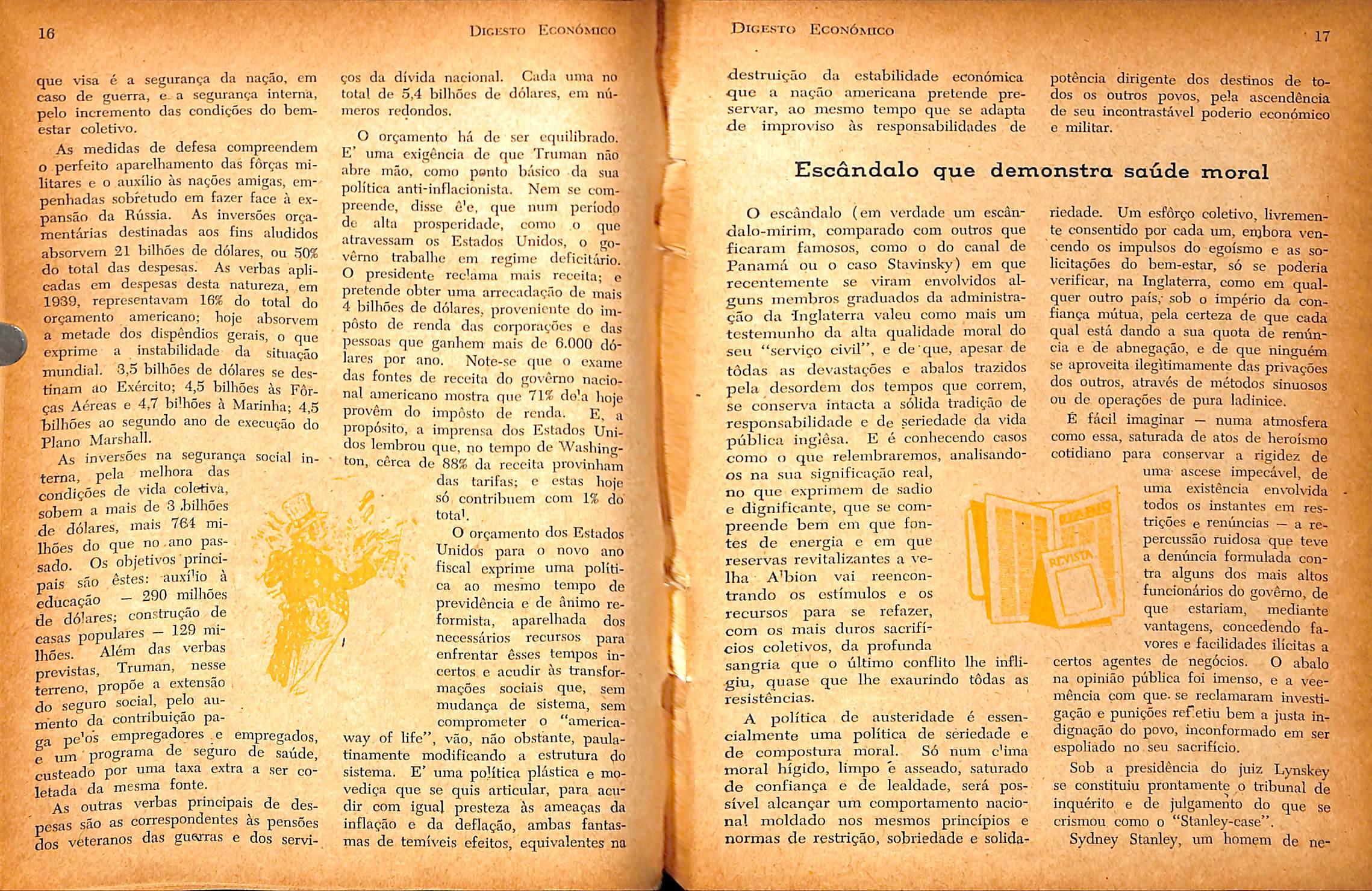
destruição da estabilidade econômica <juc 11 nação anaericana pretende pre servar, ao mesmo tempo que se adapta de impro\'iso às responsabilidades de potência dirigente dos destinos de to dos os outros povos, pela ascendência de seu incontrastável poderio econômico e militar.
Escândalo que demonstra saúde moral
o escândalo (em verdade um escàndalo-mirim, comparado com outros que ficaram famosos, como o do canal de Panamá ou o caso Stavinsky) em que recentemente se viram envolvidos al guns membros graduados da administra ção cia -Inglaterra valeu como mais um testemunho da alta qualidade moral do seu ".serviço civil", e de que, apesar de tôclas as devastações c abalos trazidos pela desordem dos tempos que correm, se conserva intacta a sólida tradição de responsabilidade c de seriedade da vida pública inglesa. E é conhecendo casos como o cjuc relembraremos, analisandoos na sua significação real, no que exprimem de sadio e dignificante, que se com preende bem em que fon- • ■ tes de energia e em que reservas revitalizantes a ve lha A'bion vai reencon trando os estímulos e os recursos para se refazer, com os mais duros sacrifí cios coletivos, da profunda sangria que o último conflito lhe infli giu, quase que lhe e.xaurindo todas as resistências.
A política de austeridade é essen cialmente uma política de seriedade e de compo.5tura moral. Só num cMma moral hígido, limpo é asseado, saturado de confiança e de lealdade, será pos sível alcançar um comportamento nacio nal moldado nos mesmos princípios e nonnas de restrição, sobriedade e solida
riedade. Um esfôrço coletivo, livremen te consentido por cada um, enjbora ven cendo os impulsos do egoísmo e as so licitações do bem-estar, só se poderia verificar, na Inglaterra, como em qual quer outro país,- sob o império da con fiança mútua, pela certeza de que cada qual está dando a sua quota de renún cia e de abnegação, e de que ninguém se aproveita iiegitimaniente das privações dos outros, através de métodos sinuosos ou de operações de pura ladinice.
É fácil imaginar — numa atmosfera como essa, saturada de atos de heroísmo cotidiano para conservar a rigidez de uma ascese impecável, de uma existência envolvida todos os instantes em res trições e renúncias — a re percussão ruidosa que teve a denúncia fonnulada con tra alguns dos mais altos funcionários do govêmo, de que estariam, mediante vantagens, concedendo fa vores e facilidades ilícitas a certos agentes de negócios. O abalo na opinião pública foi imenso, e a vee mência com que. se reclamaram investi gação e punições rcEetiu bem a justa in dignação do povo, inconformado em ser espoliado no seu sacrifício.
Sob a presidência do juiz Lynskey se constituiu prontamente o tribunal de inquérito e de julgamento do que se crismou como o "Stanley-case".
Sydney Stanley, um homem de ne-
gócios, naturalmente dinâmico e insinuan e, era apontado como o agente corruptor, que se valia de suas ligações jun o a personalidades colocadas em pos tos eminentes para obter facilidades para as suas transações. Vários foram os acusa os no curso das investigações: mmis os, parlamentares, funcionários de i\ersos epartamentos. O inquérito se rp^n" apuração das acusados formuladas"contrrosTt'' va7^^<^ An ^ Outros resultaram bro da râr»,« ? Trade e memGibson, direto? do°R*^°"*"í'' ^ ' A ÍTix
Banco da Inglaterra. amXt%:b
T- do Parla^emo nos últimos dias do ü. tradis ns oo f ^ivul- gadas as conclusões a que chegou o Tnbunaí (comissão constituída com o
Como fora de esperar de uma sen tença de magistrado inglês, a pronun ciada neste caso transpira serenidade exatidão e objetividade.
E o que o "veredictiim" dá como provado no caso é que as relações do agent d affaires" Stanley com aqueles titulares eram efetivamente cordiais, e tinham certo grau cie intimidade; que estes receberam clacjuele obséquios e pequenos presentes - convites para jantares e para passeios, garrafas de vinho (um dos obsequiados apenas um terno de roupa); nenhum recebeu dinheiro, ou qualquer coisa de valor, a'ém desses souvenirs e hospitalidade. E em favor do apontado corruptor nada fizeram de valioso os dois altos funcionários, senão erhprestar-lhe uma cooperação resultan te principalmente das próprias relações
c^ue lhe concediam, c de que o negocian te malicioso, sem dúvida, procurava ti rar facilidades para os seus empreendi mentos.
Em suma, para corromper um diretor do Departamento do Comércio e um di* reter do Banco da Inglaterra, os insig nificantes presentes seriam de nenhum pêso; e em favor dc Stanley nada fize ram êlcs, cm retribuição, que represen tasse qualquer ato lesivo ou incorreto, É o resultado indicado na súmula daS investigações.
Apesar disso, porém, apesar dessas faltas veniais, que em outros países me nos severos seriam delicadezas inocentes, a conclusão foi desfavorável aos acusa dos. E o fundamento foi que uinbos, ao receberem os presentes e gentilezas que o agente de negócios lhes fizera, não po deriam desconhecer os propósitos que ins piravam o interessado em obter facilida des e vantagens junto aos departamentos em que os obsequiados eram figuras predominantes.
E o resultado final é que mr. Belcher renunciou q seu lugar no "Board of Trade , e mr. Gibson a sua posição de diretor do Banco da Inglaterra.
Os servidores públicos na Ing'atcrra ainda-devem ser como a mulher de César, Nenhuma suspeita pode pairar sobro a lisura de seu procedimento. Ê uma condição do respeito e da confiança na administração.
A imprensa inglesa exultou, orgulhtisa, com o desfecho do inquérito. Dele saiu com a sua reputação ilesa o "Civil Service", tão admirável pela competên cia como -pela fidelidade com que zela, pela dignidade da administração. Ao seu corpo de servidores, a cuja seleção preside o mais rigoroso critério, de\c a Ing'aterra, através de tôdas as mudan ças do governo, a continuidade da ação

construtiva do poder público e a segu rança com que pode conduzir os .seus movimentos em qualquer emergência. A fama, a tradição • de incorruptibilidade clèsses servidores civis não sofreu má cula, em todo o ruidoso episódio que se x'em cie encerrar: nenhum funcionário praticou qualquer deslize que o com prometesse, apesar (assinalam os comen. tadores) das oportunidades que diàriamente se multip'icam para os abusos, com a extensão dos pocleres que a hi pertrofia da intervenção estatal vai con fiando aos seus servidores.
Os órgãos conservadores que buscam tirar ensinamentos do rumoroso escân dalo apontam-no como fruto justamente dessa "paraphemalia" administrativa, do
transbordamento das agências governa mentais.
Casos como esse que se verificou na Inglaterra são para o "Economist" um subproduto dêsses tempos de contrôle, de licenças, da dependência cm que fi cam do poder público todos os movi mentos e iniciativas. O dirigismo buro crático gera imperiosamente a necessi dade de se lhe vencer as malhas, de afastar os imensos embaraços que empecem e estorvam os empreendimentos. O "contact-man" é uma resultante ine vitável dêsses métodos e processos, um esfôrço de adaptação ao sistema econô mico que tolhe de maneira crescente a liberdade, na tessitura da rêde de vigi lância e dependência em que se procura envolver a ati\'idade coletiva.
Para reparar os tragos decorrentes esda guerra e elevar o nível do abastecimento, a Rússia se empenha a fundo na execução do novo plano qüinqüenal iniciado em 1946. As estatísticas divulgadas a respeito são também "dirigidas" para ínfli^enciar favoravelmen te o espirito público, in terna e externamente; e os dados que apresentam devem, por isso mesmo, co mo tudo que a ditadura comunista pro pala, ser recebidos com reserva. Há, porém, — pe^.o cotejo com as informa ções anteriores do próprio govêmo e com as que de fonte mais ou menos fidedigna logram romper o mistério que a cortina de aço cobre — meios de co-

nhecer, pelo menos de maneira aproxünativa, a verdade sôbre os resul tados dos esforços que a Rússia realiza no desenvobimento de sua base econômica. "The Economist", de 29 de janeiro, oferece uma análise do que se vem conseguindo nos três primeiros anos de aplicação do plano qüin qüenal, tendo em vista os dados divulga dos relativos a 1948. De 1946 até o presente, os Órgãos ofi ciais informam que 4 mil estabelecimen tos industriais se construiram ou se res tauraram, sem esclarecer, contudo, quais as instalações novas e as reconsüuidas E acrescentam que o projeto de expanindustrial previsto foi excedido de sao
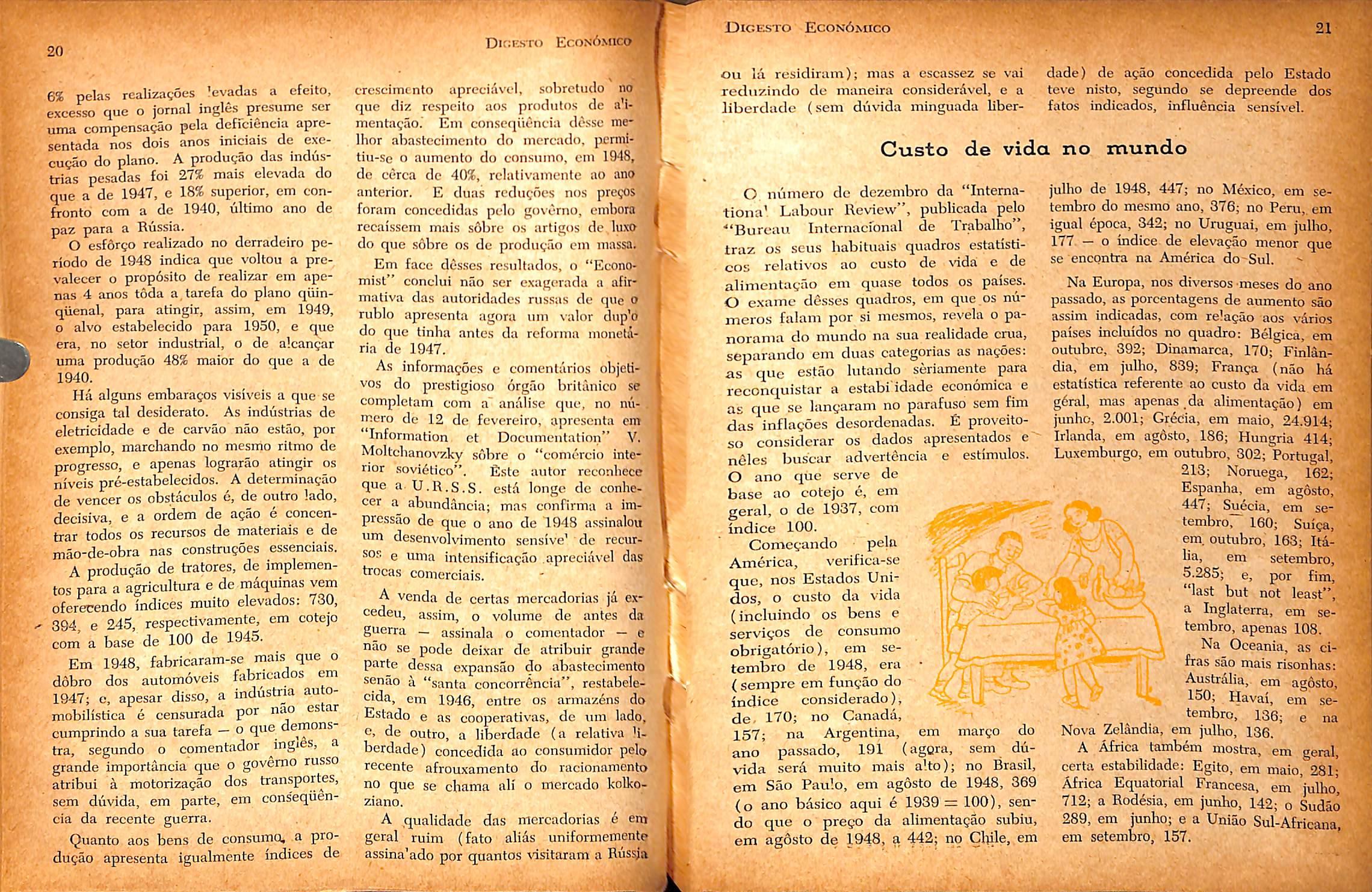
6% pelas realizações ?evadas a efeito, excesso que o jornal inglês presume ser uma compensação pela deffciencia apre sentada nos dois anos iniciais de exe cução do plano. A produção das indús trias pesadas foi 27% mais elevada do que a de 1947, c 18% superior, em con fronto com a de 1940, último ano de paz para a Rússia.
O esfôrço realizado no derradeiro pe ríodo de 1948 indica que voltou a pre valecer o propósito de realizar em ape nas 4 anos toda a,tarefa do plano qüin qüenal, para atingir, a.ssim, em 1949, o alvo estabelecido para 1950, e que era, no setor industrial, o de alcançar uma produção 48% maior do que a de 1940.
Há alguns embaraços visíveis a que se consiga tal desidcrato. As indústrias de eletricidade e de carvão não estão, por exemplo, marchando no mesmo ritmo de progresso, e apenas lograrão atingir os níveis pré-estabelecidos. A determinação de vencer os obstáculos ó, de outro lado, decisiva, e a ordem de ação é concen trar todos os recursos de materiais e de mão-de-obra nas construções essenciais.
A produção de tratores, de irriplementos para a agricultura e de máquinas vem oferecendo índices muito elevados: 730, 394, e 245, respectivamente, em cotejo com a base de 100 de 1945.
Em 1948, fabricaram-se mais que o dobro dos automóveis fabricados em 1947; c. apesar disso, a indústria auto mobilística é censurada por cumprindo a sua tarefa — o que demons tra, segundo o comentador ingies, a grande importância que o govêmo russo atribui à motorização dos transportes, sem dúvida, em parte, em conseqüên cia da recente guerra.
Quanto aos bens de consumo, a pro dução apresenta igualmente índices de
crescimento apreciável, sobretudo no que diz respeito aos produtos de a'Ímentação." Em conseqüência dêssc me lhor abastecimento do mercado, pcmütiu-se o aumento do consumo, em 1948, de cerca dc 40%, rclalivaniente ao ano anterior. E duas reduções nos preços foram concedidas pelo governo, embora recaíssem mais sobre os artigos de luxo do que sôbre os dc produção cm massa.
Em face dêsses resultados, o "Economist" conclui não ser exagerada a afir mativa das autoridades russas de que o rublo apresenta agora uin \alor dup'ò do que tinha antes da reforma monetá ria de 1947.
As informações c comentários objeti vos do prestigioso órgão britânico se completam com a análise que. no nii- . mero dc 12 dc fevereiro, apresenta em Information et Documeutation" V. Moltcbanovzky sobre o "comércio inte rior soviético". Èstc autor recnnliece que a U.R.S.S. está longe dc conhe cer a abundância; mas confirma a im pressão de que o ano de 1948 assinalou um desenvolvimento sensíve''de recur sos e uma intensificação apreciável das trocas comerciais.
A venda de certas mercadorias já ex cedeu, assim, o volume de antes da guerra — assinala o comentador — e não se pode deixar de atribuir grande parte dessa expansão do abastecimento senão à "santa concorrência", restabele cida, em 1946, entre o.s armazéns do Estado e as cooperativas, de uni lado, o, de outro, a liberdade (a relativa li berdade) concedida ao consumidor pelo recente afrouxamento do racionamento no que se chama ali o mercado kolkoziano.
A qualidade das mercadorias é em geral ruim (fato aliás uniformemente assina'ado por quantos visitaram a Rússja
Ou lá rc.sidiram); mas a escassez se vai reduzindo de maneira considerável, e a liberdade (sem dúvida minguada bber-
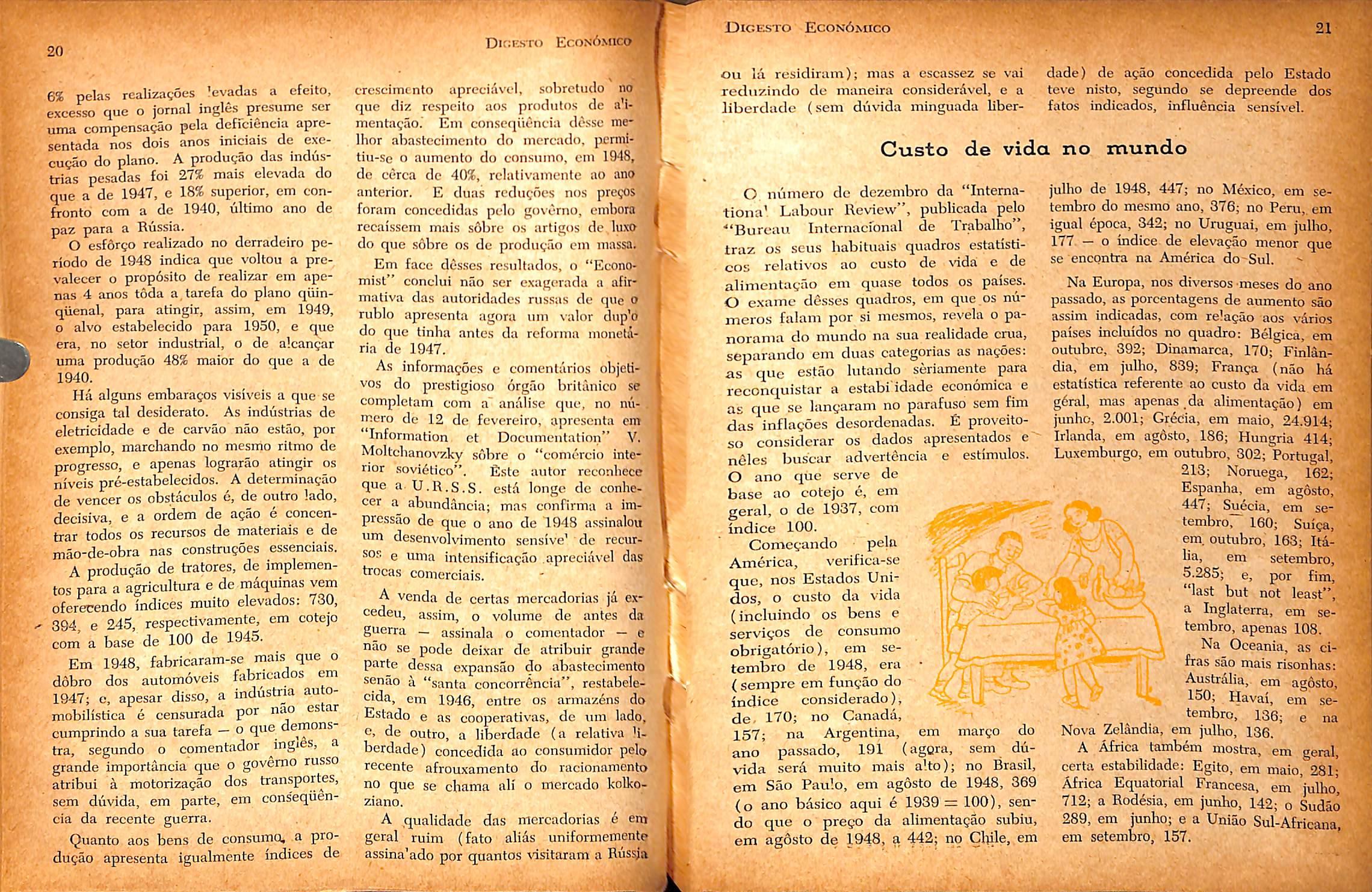
dade) de ação concedida pelo Estado teve nisto, segundo se depreende dos fatos indicados, influência sensível.
O, número de dezembro da "Intemationa' Labour Review", publicada pelo ''Burcau Internacional de Trabalho", traz os seus habituais quadros estatísti cos relativos ao custo de xidã o de alimentação em quase todos os países.
O exame dêsses quadros, em que.os nú meros falam por si mesmos, revela o pa norama do mundo na sua realidade crua, separando em duas categorias as nações: as que estão lutando seriamente para reconquistar a estabi idade econômica e as que se lançaram no parafuso sem fim das inflações desordenadas. É proveito so considerar os dados apresentados e nêles buscar advertência e estímulos.
O ano que serve de base ao cotejo é, em geral, o de 1937, com índice 100.
Começando • pela
América, verifica-se - r . que, nos Estados Uni- , ■ v dos, o custo da vida (incluindo os bens e serviços cie consumo obrigatório), em se tembro de 1948, era (sempre em função do índice considerado), ' de. 170; no Canadá, 157; na Argentina, em março do ano passado, 191 (aggra, sem dú vida será muito mais alto); no Brasil, em São Paulo, em agosto de 1948, 369 (o ano básico aqui é 1939 = 100), sen do que o preço da alimentação subiu, em agôsto de 1948, a 442; no Çlple, em / ' 1 : - V
julho de 1948, 447; no México, em se tembro do mesmo ano, 376; no Peru, em igual época, 342; no Uruguai, em julho, 177 — o índice de elevação menor que se encontra na América do-Sul.
Na Europa, nos diversos meses do ano passado, as porcentagens de aumento são assim indicadas, com relação aos vários países incluídos no quadro: Bélgica, em outubro, 392; Dinamarca, 170; Finlân dia, em julho, 839; França (não há estatística referente ao custo da vida em géral, mas apenas da alimentação) em junho, 2.001; Grécia, em maio, 24.914; Irlanda, em agôsto, 186; Hungria 414; Luxemburgo, em outubro, 302; Portugal, 213; Noruega, 162; Espanha, em agôsto, 447; Suécia, em se tembro. 180; Suíça, em. outubro,' 163; Itá lia, em setembro, 5.285; e, por fim, "last but not least", a Inglaterra, em se tembro, apenas 108.
Na Oceania, as cifras são mais risonhas: Austrália, em agôsto, 150; Havaí, em se tembro, 136; 6 na Nova Zelândia, em julho, 136.
A África também mostra, em geral, certa estabilidade: Egito, em maio, 281; África Equatorial Francesa, em julho', 712; a Rodésia, em junho, 142; o Sudão 289, em junho; e a União Sul-Africana, em setembro, 157. '
Na Ásia, a China bate todos os cál culos imagináveis, antes da mudança do sistema monetário: em Ciiangai, cm agosto de 1948, o índice era de 317.152.000. Na índia, no mesmo mês, 303; no Ceilão, 143; na Indochina, 4.052; no Japão (ano "base 1939= 100) em junho de 1946, 395,
Na .^érica do Sul, a curva de variaçao é, em geral, sempre ascendente, e ^ vezes vai aos saltos; o Uruguai é a ^íca exceção a êsse ritmo desastroso. Na Europa, a Dinamarca, a Irlanda a
PMtugal. a Suécia e a Suiça resclen. à onda de encarectaento.
A Inglaterra v a única cjiie realmente colhe os fruto.s de sua política de contensão, mantendo um equilíbrio quase con.stante. A Grécia está lançada, com a guerra civil, em plena orgia; e a Itália luta tenazmente para não agravar o seu índice de majoração, já assustador.
A França faz também esforços deses perados nesse sentido, e já vai colliendo os frutos de sua decisão. E a China indica qual é o destino do.s que não reagem em tempo para sobreviver. E se nem todos podem seguir o exemplo da Inglaterra, que ao menos procurem o bom rumo seguido pela maioria dos países da África e da Oceania.
As perspectivas econômicas no ano corrente sao rnais favoráveis em todo o mundo, segundo as apresenta o relatório organizado pelo Departamento de As suntos Econômicos das Nações Unidas.
A^ pressão inflacionáría não revela ten dências para se agravar em 1949; ao contrário, há razões para prever que se reduzirá em vários países, pelo aumento da produção de alimentos e íaens de consumo — é a indicação geral que for mula aquele relatório.
A situação alimentar vem melhorando, e essa melhora é apontada na opinião do órgão técnico da ONU como sendo "o mais importante desenvolvimento eco nômico durante o ano passado, e, com referência ao problema, o mais impor tante desde o fim da guerra". Abun dantes colheitas de cereais se registraram em quase todas as regiões do globo, nos derradeiros meses de 1948, acusando um excedente exportável de 38 milhões de métricas (a maior desde lyju-iil), o que tomará possível aumen-

tar, em 1949, a quantidade de pão. elevar os níveis iJas rações e afrou.xar a re gulamentação do consumo. A produção e cereais para o fabrico de pão c esimada em total que excede em cêrca 11^ ^ 1-947, e em aproximadamen- e 10% o nível anterior à guerra. ,4s coíeitas de trigo c centeio na Europa se culam em 16 milhões de toneladas, o« 45% mais do que as de 1947. se bem sejam inferiores, em cêrca de 17%, aos totais alcançados anteriormente ao altimo conflito armado.
Dessa forma, o consumo de alimentos everá aumentar substancialmente em quase todos os países.
Adverte, porém, o relatório, que ò aumento de produção, em 1948, se de veu em grande parte às condições favo ráveis de tempo. É preciso; por isso, que não haja excessivo otimismo. Em rnuitas regiões, a maior expansão da pro dução agrícola não depende tanto do aumento da área semeada como da efi-

ciência técuica, do emprego da mecani zação e de outros meios. E assim sendo, o problema central do ano corrente será o de ele\ar o suprimento de máquinas agrícolas — especialmente tratores e fer tilizantes — até agora não produzidas de maneira a satisfazer à demanda mun dial.
Assinala o relatório, ainda, a depen dência em que muitos países ficaram de importação de alimentos para se susten tarem, nos úlHnios tempos. Decorreu daí que os Estados Unidos, em. 1947-48, forneceram 44% dos cereais exportados para as diversas partes do globo, quando, durante os anos de 1934 a 1938, haviam contribuído apenas com 2%.
Quanto à produ ção industrial do mundo, o r^elatorio do órgão especializa do da O.N.U. regis tra que, nos primei ros 9 meses de 1948, excluída a dos Es tados Unido.s, foi em 18% superior à do período correspon dente de 1947. Êsle aumento foi devido à expansão produtiva assinalada nu Rússia e na Europa, espe cialmente nos países devastados, inclu sive a Alemanha, alcançando em certos centros o máximo de rendimento em re lação aos recursos disponíveis.
A produção mundial (excluída a Rús sia) de carvão, linite, óleo, energia hi drelétrica e gás natural, no período coneiderado, isto é, nqs primeiros 9 meses do ano passado, alcançou o nível de 125, em relação ao anterior à guerra. A produção de energia elétrica e óleo aumentou consideràvelmente, em con traste com o pequeno crescimento dá de carvão. A de óleo, por exemplo, foi de
77% mais alta do que em 1937. Igual mente, a produção de borracha, fibras e alguns metais não ferrosos e.xcedeu às cifras anteriores à guerra.
Em geral, a produção de bens de con sumo se manteve em proporção inferior, relativamente à de bens de investimento. Produziu-se mais aço e produtos de aço; apesar disso houve escassez sensí vel, em face das necessidades crescentes do mercado. O mesmo se verifícou em relação às máquinas.
Muitos países que poderiam contribuir para o incremento da produção mundial se vêem tolhidos pelas dificuldades em obter ou financiar a importação de equi pamentos; e o fornecimento do equipa mento foi de outro lado restringido pe la impossibilidade de outros poderem obter ou financiar a im portação das neces sárias matérias-pri mas.
Para corrigir esses desajustamentos e fomentar a produ ção, o Departamen to de Assuntos Econômicos da O.N.U., no seu relatório, insiste na urgente ne cessidade de expansão do comércio in ternacional.
No curso dos seis primeiros meses de 1948, a exportação mundial, excluída a dos Estados Unidos, foi em 10% supe rior à do -primeiro semestre de 1947; poréiti, ela representou apenas 3/4 do nível de 1937. Há uma pressão conti nuada na balança de pagamentos da maioria dos países, embora mitigada provisoriamente pelo plano de ajuda americano à Europa.
No equilíbrio e no ajustamento do sistema de trocas inteniacionais, para
apoiar o movimento mundial de produ ção, aponta o relatório o problema mais relevante, e também mais intrincado, de mais difícil solução, dadas as transfor mações fundamentais ocasionadas pela
guerra na economia do riuasc lódas as nações c os interesses cm conflito. E, neste ponto, enuncia b conselho econô mico da O.N.U. a única nota pessimista do seu relatório.

Uma surpreendente rrmtona de fabricantes de nmm.u ■ àe acordo em que as perspective^ relativas à vrodJr,n ^<'Kncola parece estar rfntr. são excelentes. O presidente da CmL^ n . f^nqutnaria no ano cot io »'• uü Graíuim P ■ nu iiiiu ouise à quantidade sem precedentes de equipamentos' num valor de US$ h250.000 declarou recentemente Que t7 ^ vara a necessidade de se contmuar com uma produção Vf- 7 apontam no mínimo. Acrescentou ele nao existir dúvida em 7,í durante cinco anos ,uinnria e 1949® tT mo sem contudo esquecer-se da crescente concorrênciaTTÍT^^i" da'A B. Farquhar afirmou que os negados serão ^ ' f.,Uri/nntes de maqutnarta agriçola esrf/ín corrente. Scgundá o. VeitZLTe ^ nttpfTuir sua obtenção, mas do seu mérito 7°7 da habilidade era se conseguir sm^oo^ f7b^ características de fim. cionamentm ^g^l^ção de maquinaria agrícoC^^' M^nde ameaça que po derá presidente da ZmSn^ materiais, especuilmetüe de aço. 7 materiaS Harvester Co. afirmou o seJ guinte: "Do^ ponto «f Verspectivas para no nlínimo a vri- r- melhores emhnrn \,-f. r'^"^p«íciiua5 para no mínimo a pri meira parte de 194 , „ ' o se^am róseas. O problema principal esta na escassez de chapas.

Diz-sc, às vezes, que os brasileiros Dcão gostam de planos. Tenderiam, como outros po\'OS de países novos, a seguir seu insHnto, sem longa premeditação, prefeririam ações rápidas a aüyidades que exigem muito tempo e continuida^ de e confiariam demasiadamente na im provisação, subestimando os esforços neces.sários para a execução de tôda obra importante.
Pessoalmente, considero errôneas tais afirmações. Sem dúvida, uma das quali dades mais impressionantes dos brasilei ros consiste na faculdade de adaptar-se a situaçíões imprevistas. A grandeza e generosidade de seu solo permite-lhes, com relativa facilidade, mudar as cultu ras, abandonar terras ingratas a favor de outras, mais promissoras. A abundân cia dc espaço compensa", até certo ponto, a falta de tempo; ou, em têrmos econô micos, nos países vastos a extensão subs titui a intensidade.
Entretanto, um país como o Brasil, cuja principal planta útil, o cafeeiro, ne cessita de cinco a seis anos para dar frutos, é forçosamente um país plane jador. Cada lavrador de café deve fa zer reflexões sobre o futuro, não um futuro vago e ilimitado, mas um período determinado e relativamente longo. Está acostumado a semear, trabalhar, inves tir, sem recompensa imediata para os seus esforços. O ciclo anual, que era outros países — aquêles por exemplo, onde o trigo constitui o principal pro duto agrícola — é o fator predominante de todo cálculo econômico, tem para o Brasil apenas significação limitada, pois grande parte da nossa economia acusa
efetivamente ciclos Vegetativos muito mais longos.
Não ignoramos as dificuldades que resultam desse fenômeno. Vimos mais de luna vez a quase impossibilidade de adaptar, mediante regulamentos, a pro dução de nossos jptrmcipais produtos agrícolas às flutuações da conjuntura eco nômica internacional. Não obstante, essa observação mostra também que o período de um ano, que ser\e geral mente como unidade na fixação dos or çamentos públicos, é, do ponto de vista econômico, um período artificial e insu ficiente piira resolver problemas básicos. Precisa-se contar com períodos mais lon gos, na administração pública como na economia particular, para realizar obras que, por sua própria natureza, ultrapas sam o espaço de tempo de um ano. Tal é a simples justificação dos chamados planos trienais, quadrienais ou qüin qüenais, existentes em muitos países (Es. tados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Argentina, Turquia, índia etc.).
Decerto, a particularidade do plane jamento moderno não se limita à exten são do período de execução além de um ano. Uma de suas características consiste na coordenação de projetos ou assuntos que, anteriormente, foram tra tados isoladamente, no estudo das re percussões mútuas de sua realização, sob o aspecto da mão-de-obra, do capital, das finanças públicas, do consumo, da importação e ex-portação. O planejamen to visa eritar empecilhos que dificultem a
pronta realização, se esforça para obter Oom os meios dados o nicixlmo rendi mento. Torna-se, dessa maneira, um pro cesso dedutivo que passa das linhas ge rais aos pormenores, bem diferente do processo indutivo, usual na elaboração dos orçamentos públicos anuais, que não são muito mais que uma reunião cont<ábil de inúmeros itens isolados.
Ora, não se deveria exagerar a parti cularidade do planejamento em si. Em bora já exista hoje toda uma doutrina e até uma filosofia do planejamento, o pia nejamento econômico fica longé de ser um processo uniforme e menos ainda um sistema único de política econômica. Existem atualmente três grandes tipos de planejamento:
1° - O planejamento .socialista, que sujeita toda a economia do país a um
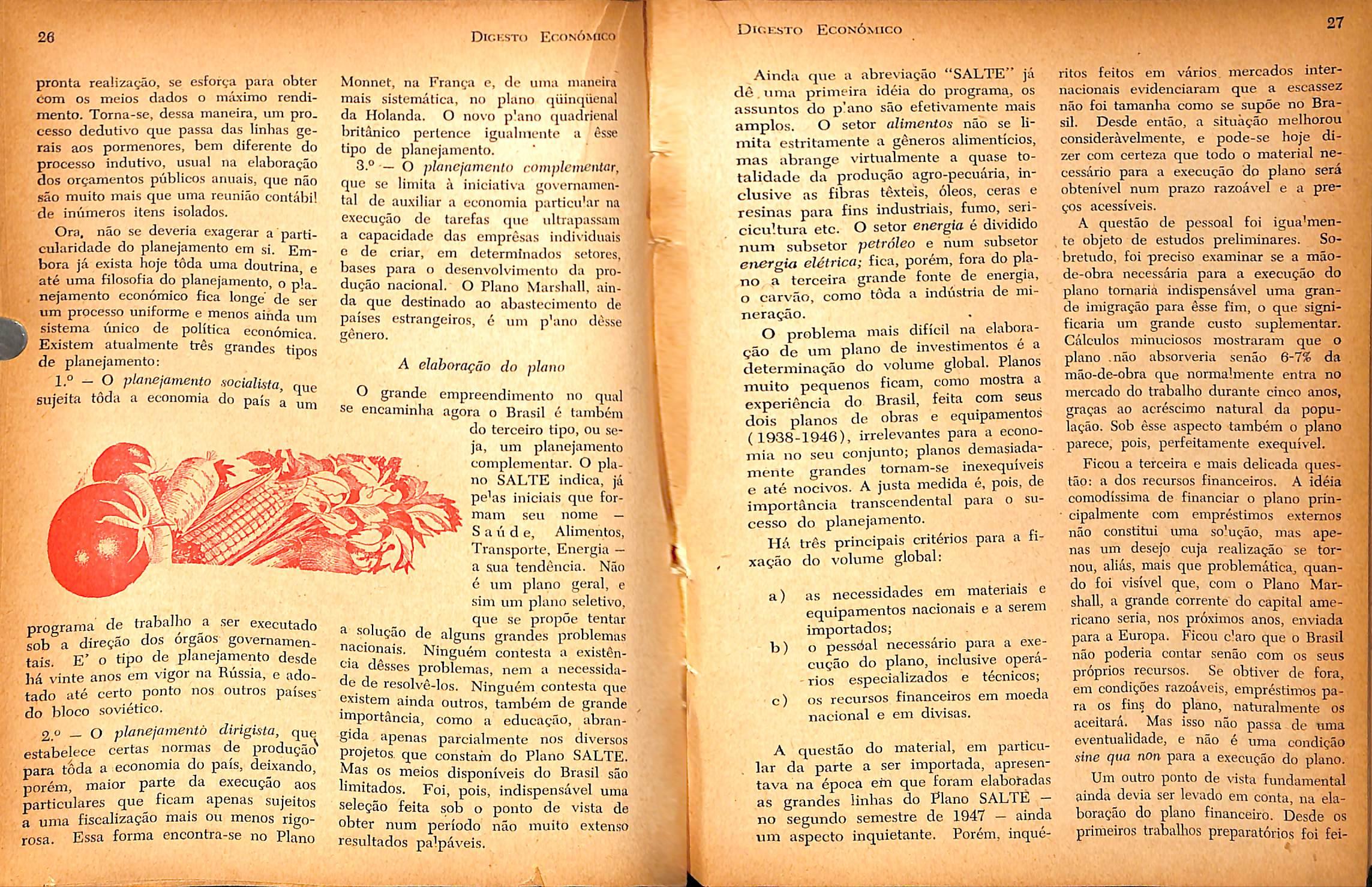
programa de trabalho a ser executado fob a direção dos órgãos governamen tais. E' o tipo de planejamento desde há vinte anos em vigor na Rússia, e ado tado até certo ponto nos outros países" do bloco soviético.
2.0 O planejamentò dirigista, que estabelece certas normas de produção^ para toda a economia do país, deixando, porém, maior parte da execução aos particulares que ficam apenas sujeitos a uma fiscalização mais ou menos rigo rosa. Essa forma encontra-se no Plano
Monnet, na França e, de uma maneira mais sistemática, no plano qülnepienal da Holanda. O novo p'ano quadrienal britânico pertence igualmente a êsse tipo de planejamento.
3.® -— O plancjameulo romplcmCfUar, que se limita à iniciativa govemamental de auxiliar a economia particu'ar na execução de tarefas que ultrapassam a capacidade das empresas individuais o de criar, em determinados setores, bases para o descnvolvimentit da pro dução nacional. O Plano Marshall, ain da que destinado ao abastecimento de países estrangeiros, é um p'ano desse gênero.
A elaboração do plano
O grande empreendimento no qual se encaminha agora o Brasil é também do terceiro tipo, ou .se ja, um planejamento complementar. O pla no SALTE indica, já pe^as iniciais que for mam seu nome Saúde, Alimentos, Transporte, Energia a sua tendência. Não é um plano geral, e sim um plano seletivo, que se propõe tentar a solução de alguns grandes problemas naoioiiais. Ninguém contesta a existên cia desses problemas, nem a necessida de de resolvê-los. Ninguém contesta que existem ainda outros, também de grande importância, como a educação, abran gida apenas parcialmente nos diversos projetos, que constam do Plano SALTE. Mas os meios disponíveis do Brasil são limitados. Foi, pois, indispensável uma seleção feita sob o ponto de vista de obter num período não muito extenso resultados palpáveis.
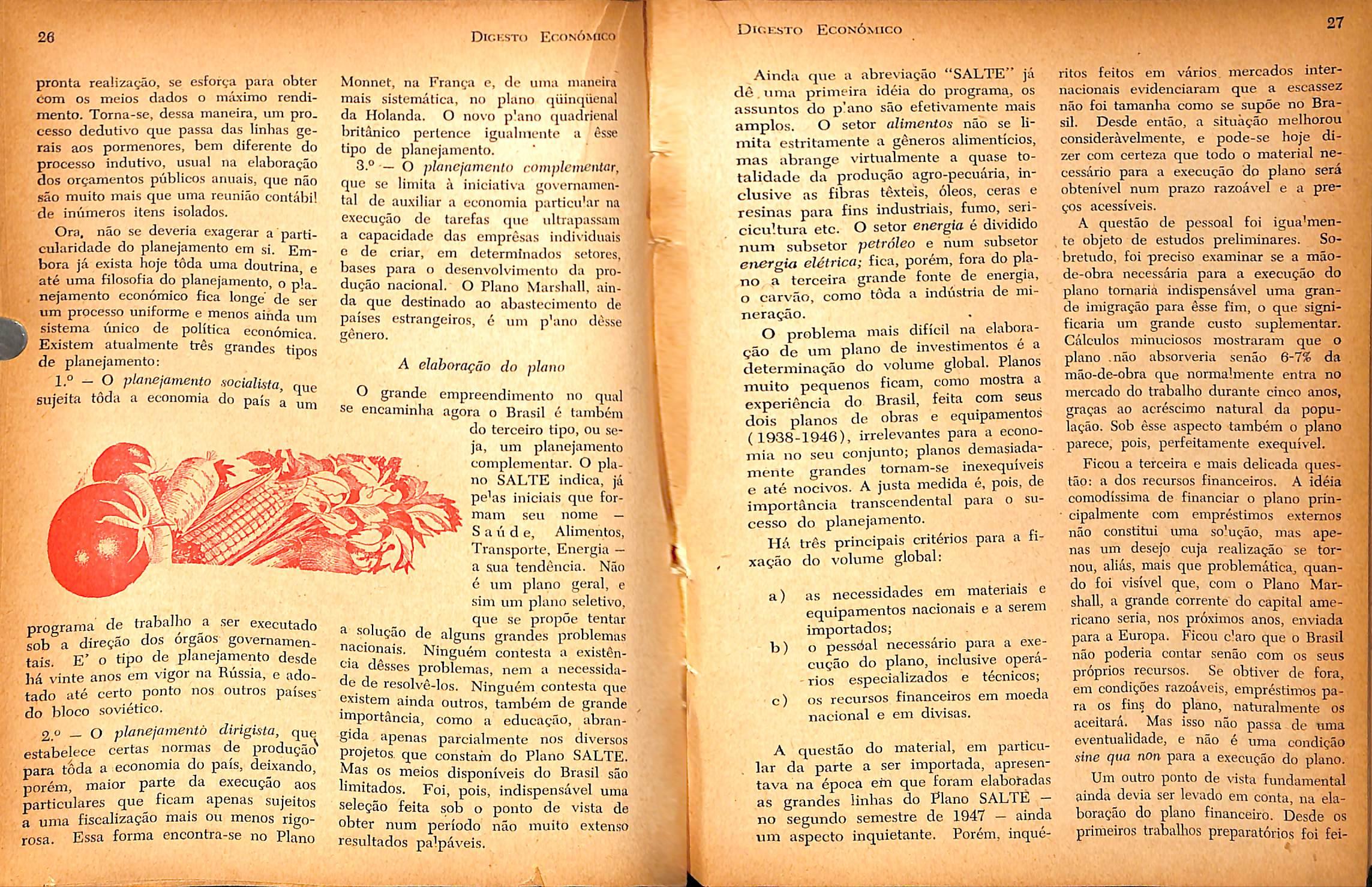
Ainda que a abreviação "SALTE" já de uma primeira idéia do programa, os assuntos do plano são efetivamente mais amplos. O setor alimentos não se li mita estritamente a gêneros alimentícios, mas abrange virtualmente a quase to talidade da produção agro-pecuária, in clusive as fibras têxteis, óleos, ceras e resinas para fins industriais, fumo, sericicultiira etc. O setor energw é dividido num subsetor petróleo e rium subsetor etiergia elétrica; fica, porém, fora do pla no a terceira grande fonte de energia, o carvão, como toda a indústria de mi neração.
O problema mais difícil na elabora ção de um plano de investimentos é a determinação do volume global. Planos muito pequenos ficam, como mostra a experiência do Brasil, feita com seus dois planos de obras e equipamentos (1938-1946), irrelevantes para a econo mia no seu conjunto; planos demasiada mente grandes tomam-se inexequiveis e até nocivos. A justa medida é, pois, de importância transcendental para o su cesso do planejamento.
Há três principais critérios para a fi xação do volume global:
a) as necessidades em materiais e equipamentos nacionais e a serem importados;
b) o pessóal necessário para a exe cução do plano, inclusive operá- rios especializados e técnicos;
c) os recursos financeiros em moeda nacional e em divisas.
A questão do material, em particu lar da parte a ser importada, apresen tava na época efn que foram elabotadas as grandes linhas do Plano SALTÉ no segundo semestre de 1947 — ainda um aspecto inquietante. Porém, inqué
ritos feitos em vários, mercados inter nacionais evidenciaram que a escassez não foi tamanha como se supõe no Bra sil. Desde então, a situação melhorou consideràvelmente, e pode-se hoje di zer com certeza que lodo o material ne cessário para a execução do plano sera obtenível num prazo razoável e a preç-os acessíveis.
A questão de pessoal foi igua'mente objeto de estudos preliminares. So bretudo, foi preciso examinar se a mãode-obra necessária para a e.xecução do plano tomaria indispensável uma gran de imigração para êsse fim, o que signi ficaria um grande custo suplementar. Cálculos minuciosos mostraram que o plano .não absorveria senão 6-7^ da mão-de-obra que normalmente entra no mercado do trabalho durante cinco anos, graças ao acréscimo natural da popu lação. Sob êsse aspecto também o plano parece, pois, perfeitamente exeqüível. Ficou a terceira e mais delicada ques tão: a dos recursos financeiros. A idéia comodíssima de financiar o plano prin• cipalmente com empréstimos externos não constitui luna so'ução, mas ape nas um desejo cuja realização se tor nou, aliás, mais que problemática, quan do foi visível que, com o Plano Mar shall, a grande corrente do capital ame ricano seria, nos próximos anos, enviada para a Europa. Ficou claro que o Brasil não poderia contar senão com os seus próprios recursos. Se obtiver de fora, em condições razoáveis, empréstimos pa ra os fins do plano, naturalmente os aceitara. Mas isso não passa de uma eventualidade, e não é uma condição •rine cjua non para a execução do plano. Um outro ponto de vista fundamental ainda devia ser levado em conta, na ela boração do plano financeiio. Desde os primeiros trabalhos preparatórios foi fei-

ta* uma rigorosa separação entre as des pesas em moeda nacional c as necessi dades em moeda estrangeira, pois é evi dente que mesmo abundantes recursos em cruzeiros não garantiriam a aquisi ção do equipamento indispensável no estrangeiro, se o Brasil não dispusesse de disponibilidades em cambiais. Fe!i z m e n t e, mostrouse possível a utilização de boa parte dos nossos fundos em moedas eu ropéias, anteriormente consideradas quase co mo -uma reserva morta. O exame dos recur sos já existentes ou mobilizáveis revelou que o vo'ume global do plano poderia ser da ordem de grandeza de 18-20 bilhões de cruzeiros, para um pe ríodo de cinco anos. Nesse total, as despesas em divisas representariam cêrca de um quinto. O reexame pelas di versas Comissões da Câmara confirmou a justeza dessa estimativa.
o esquema financeiro
Um plano de investimentos justifica, em princípio, o financiamento médiante empréstimos a longo, prazo. A situação precária do nosso mercado de capital, porém, não permite a aplicação desse método, senão numa escala bem limita da, e com todas as precauções neces sárias. Conseqüentemente, já o plano ori ginal previa que pelo menos metade das despesas deveria ser custeada com recur sos orçamentários usuais. ^ A Comissão de Finanças da Gamara dos Deputados ainda reforçou essa parte, de modo que, de um total de 18,8 bilhões de cruzeijos, 11,8 billiões figurarão, em parcelas
crescentes, no orçamento gemi da União, durante os exercícios do 1949 a 1953.
Outra parte dos recursos de\erá ser providenciada mediante operações de crédito. No plano original foi previsto um empréstimo, no total d(? 6.200 mi lhões de cruzeiros, tomado em cinco anos e meio, compu'sòrianTenle, sobre o prodiu \ to da exportação. Desse total, 1.400 miMiões de viam servir para a amortização das onero sas letras do Tesouro que os exportadores es tão obrigados a subs crever perinancntemente, desde 1946, e os restantes 4,8 bilhões deviam ser ajjlicados no financiamento do plano. A agravação da situação nos mercados internacionais, para várias de nossas indústrias exporta doras, e as incertozíis do futuro a êsse respeito, tomavam aconselhável dar uma base máis amp'a ao empréstimo. O em préstimo compulsório será substituído por um empréstimo comum de 4 bilhõe.s de cmzeíros, aberto à subscrição púhlica, em condições particularmente fa voráveis. Serão lançados anualmente, no máximo, 800 milhões em obrigações, que^ vencerão 7% de juros e serão resgataveis em dez anos, a partir de 1954. Continuará, porém, com o novo esquenia, a subscrição compulsória das le tras do Tesouro.
Uma segunda operação de crédito concerne ao Banco do Brasil, que em prestará ao Tesouro Nacional 2 bilhões de cruzeiros — o plano original previa apenas 1,8 bilhões — para a aquisição de divisas. Um terceiro empréstimo, inter no ou externo — não inscrito no plano original — de 1 bilhão será aplicado ao
financiamento dos programas rodoxãários, estabelecidos no Plano SALTE, pois a contribuição de melhoria, já exis tente para êsse fim, ainda não é muito produtiva.
O plano original previa ainda uma terceira categoria de recursos oriundos de vendas dos estoques de café do DNC, e de várias outras operações comerciais do Governo. Mas, a, utilização dessas receitas" para os fins do plano mos trou-se pouco oportuna e até inviável, pois o Covômo já ahenou os estoques de café, reservando o produto para outros objetivos. Todavia, o Governo não que ria ficar somente recebedor* de novos recursos, sem contribuir èle mesmo ao financiamento do seu grande empreen dimento. Utilizou um saldo a seu favor no Banco do Brasil, no montante de 1.178 milliões, para a aquisição de re finarias, locomotiva.s e petroleiros. Essa transação não entra no esquema finan ceiro do plano, mas constitui econòmicamente uma parte essencial de sua rea lização.
Eni resumo, o esquema de financiarnento, na forma pela qual êle entrou no plenário da Câmara, é articulado da seguinte maneira: •
Recursos no qüinqüênio de 1949-1953
(em milhões de cruzeiros)
1. Dotações orçamentárias:

11. Operações de cr^ito:
Empréstimos de Obri gações, em parce'as anuais de 800 milbões
Empréstimo do Banco do Brasil
Empréstimo interno ou externo para os pro gramas rodoxiários .
Os investimentos
O Plano SALTE representa um con junto de programas econômicos, com pletado por um amplo programa de .saú de publica. Alguns desses .programas, como o plano ferroviário e o plano rodoriário, existiam já antes, e aos auto res do Plano SALTE coíhje apenas a -tarefa de atualizá-los e coordená-los. Outros, como o programa sanitário e o do setor aUniejitos deviam ser elabora dos inteiramente, num prazo bastante curto.
Alguns setores compreendem várias dezenas, outros centenas de projetos concretos: construções de estradas de ferro, de estradas de rodagem, instala ções portuárias, melhoria de navegabi lidade de rios, mecanização agrícola, la boratórios de agronomia, serxúços contra doenças contagiosas, assistência aos pes cadores, eletrificação rural, oleodutos e inúmeros outros itens. Existem no Pla no poucas propostas que encontraram objeçoes de pnnoipio. Mas é clafo que m^esmo na mais ciiidadosa seleção ficam sempre duxndas sobre qual a mais ne cessária. Ninguém pode prever com precisão matematica que um trecho de estrada de ferro em Goiãs é mais urgen te que outro, no Rio Grande do Nor te. Daí surgem, na discussão pública e
parlamentar, divergências de opinião, Governo — sementes, adubos etc., — será inspiradas por interesses locais, respei- revendida aos produtores. Ainda que táveis e justificáveis, mas nem todos po- a revenda se faça .sem lucro e a crédito, dem ser satisfeitos dentro de um plano trata-se apenas de de.spcsas temporárias cujos meios são limitados. Pode-se, po- e recuperáveis. rém, dizer que iis diversas comissões téc- utilização das dotações nicas da Câmara f.zeram um trabalho ,.^,4 criado um Fundo Romuito util e que, em particular, o exame t^tivo, de 800 milhões de eruzeiros. No detalhado do plano pelo relator o uriginal êsse Fundo devia roeeber deputado Ponee de Arruda, contabum finaneiamento especial. Na lei voconsideravelmente para seu aperfeiçoa- Câmara, o Fundo Rotativo semento. i i 1
^ As modificações efetuadas pelo Con- "J gresso foram pequenas, em relação ao ^ vulto do projeto. No setor petróleo e no quadro seguinte confrontamos as energia elétrica foram nulas e no setor despesas no qüinqüênio, de acòrdo comsaúde insignificantes. No setor transpor- ^ projeto votado pela Câmara dos Deputes as reduções foram raras, mas, pelas inscritas no plano original: razões expostas acima, foram votadas nu merosas dotações suplementares, de mo- Despesas no qüinqüênio 1949-1953 do que a despesa total com êsse setor cresceu de 1,8 bilhões, atingindo perto (em milhões dc cruzeiros) de 10 bilhões de cruzeiros. A prepcn- .„ « " . 1 n . , rs j » . 1 ^ _ L 1 . , r Aplicncties rmii» urliiiiiol rnij. da intnau derancia dos transportes dentro do pia- , 'no encontrou, entretanto, aprovação
Uma discussão mais viva desenvolveu-
9.655(-f) se em torno do setor alimentos, que en- Petróleo .....
1.495(-1-) volve questões delicadas da política agri- Energia eléti-ica
cola. A Câmara foi, a esse respeito, Rotativo 800 800 mais conservadora que o Executivo, mas Juros, etc 700 IIQ também menos generosa, e as dotações Total
18.800(-b) para êsse setor foram reduzidas de 3.700 milhões, preWstos no plano original, para 2.720 milhões de cruzeiros. Na (-{-) Dotações de 198 milhões para lorealidadc, os meios disponíveis para os comotivas e de 980 milhões para assuntos agrícolas serão muito maiores, refiruirias e petroleiros, incluídos pois grande parte dos materiais e equi- no plano original, constam agora pamentos providenciados às expensas do de umi lei separada, já aprovada.

A Câmara dos Representantes em Washin^on aprovou a prorrogação da lei sóbre o controle das exportações até o dia 20 de julho de 1951, com a mesina redação original de julho de 1940.
Luci.vno Jacques de Moraes

naciona
(E.v-diretor do Departamento Nacional da Produção Mineral e ex-professor de Ceologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo)
Se lançarmos um olhar perscrutador mar que muito se conseguiu, atendensôbre o mapa geológico do Brasil, per ceberemos, logo, que ainda existem gran des áreas, sobretudo no Oeste e no Norte, assinaladas em branco ou com uma in terrogação, completamente desconheci das, sob o ponto de \ista de sua geolo gia. ou sôbre as quais só possuímos, a êsse respeito, idéias muito vagas. Se e.xaminarmos mais pormenorizadamente êsse mesmo mapa e o compararmos com outros, com as cartas regionais ou com os tvalDalhos descritivos correspondentes, concluiremos que são enormes as discordâncias entre as representações cartográ ficas de várias formações geológicas, não só quanto aos seus limites, mas também no que concerne à sua posição estratigráfica. Se procurarmos interpretar a geomorfologia dessas estrutura ou a
Se enveredarmos pelo campo dos re cursos minerais, não será menor o nosso embaraço: — da maior parte das jazidas, não conseguiremos senão informes im precisos, e de outras nem isso podere mos alcançar. Contam-se, relativamen te, por poucos os depósitos nos quais se conhecem, de um modo satisfatório, as reserva.s aproximadas, a estrutura e a gênese.
do-se à exnguidude das verbas e do pes soal habilitado para .êsse fim destinados, sem falar na estagnação burocrática, que anula os melhores esforços.
^ Temos, pois, necessidade urgente de intensificar os estudos geológicos, siste máticos, do território nacional. Os re conhecimentos pioneiros só se justificam, agora, nas grandes áreas, ainda pouco conhecidas, do Oeste e do Norte do país. Precisamos, antes, de estudos de deta lhe, e, para isso, devemos eleger as áreas de mais interêsse, científico ou econô mico. e nelas trabalhar o tempo neces sário para alcançar o resultado colimado. E' preciso, para tanto, contar com boas cartas topográficas, em escala suficien temente grande, para permitir represen tar a geologia da região com os pormenores indispensáveis à sua boa compre ensão. Quando não se puder dispor, de
áreas, \'eremos que, em geral, ou faltam completamente elementos para a sua ^ — percepção, ou os dados existentes são fa-. antemão, dessas cartas, é mister"levanIhos e imprecisos, aumentando a confu- lá-las, usando-se, de preferência, o pro cesso rápido da prancheta. Conviria, por isso, difundir, bem mais, entre nós, o emprego dêsse processo de levanta mento topográfico, preferido pelos geó logos americanos, e que se adapta mara vilhosamente às condições do nosso ter ritório. Só assim poderá liaver progres so no conhecimento da nossa geologia. As áreas estudadas servirão de pa-,drão e de pontos de referência para os novos estudos. Desta forma, ficarão so lucionadas inúmeras controvérsias sôbre muitas formações geológicas, sôbre a cor respondência de umas para com as ou tras, sôbre a exata definição e constituisao. 1
Não vale esta constatação por uma afirmativa de que nada haja sido reali zado sôbre a geologia e os recursos mi nerais do Brasil. Ao revés, pode-se afir-
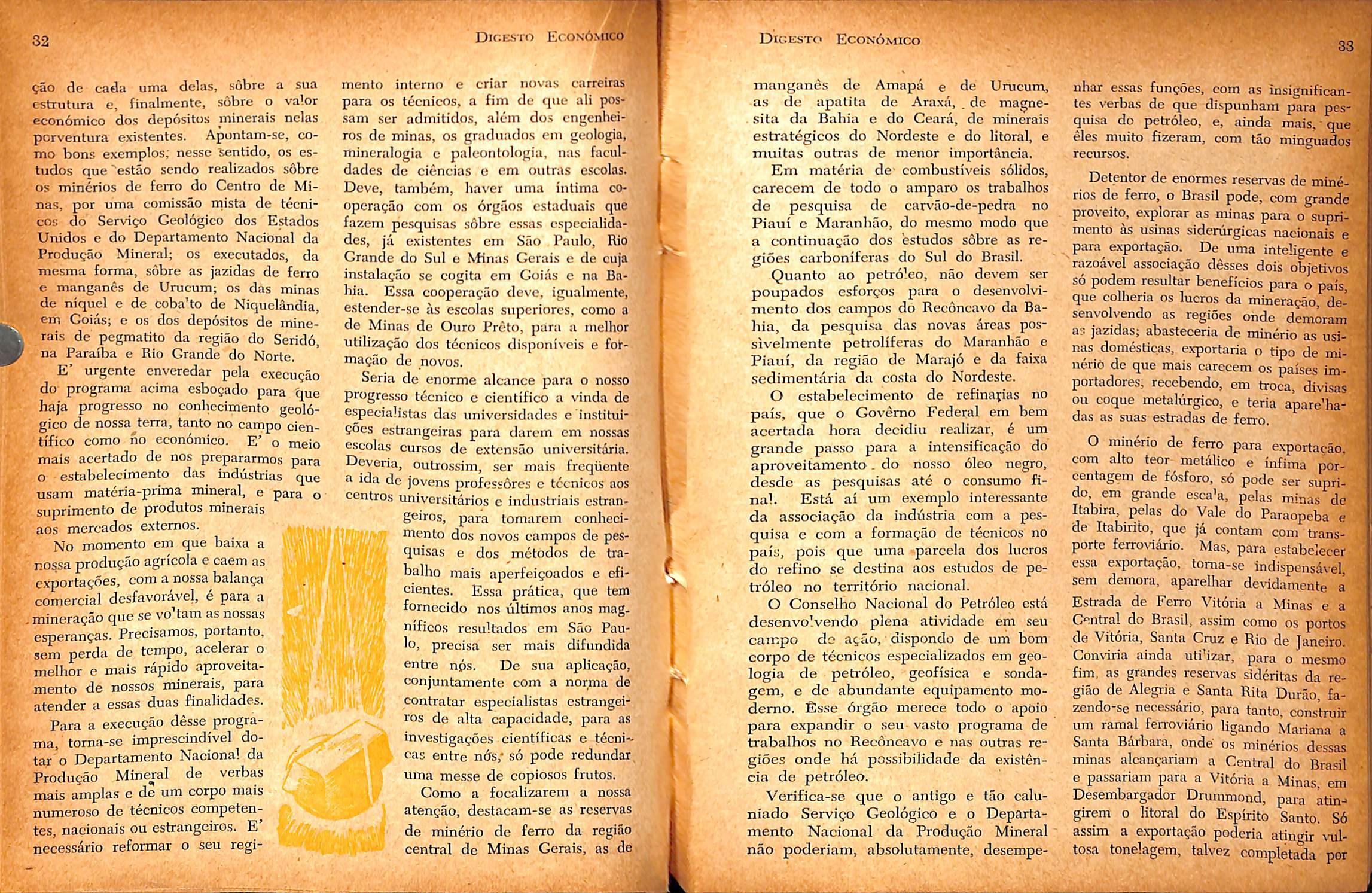
Ção de cada uma delas, sobre a sua e-strutura e, finalmente, sôbre o valor econômico dos depósitos minerais nelas porventura existentes. Apontam-sc, co mo bons exemplos; nesse Sentido, os es tudos que ""estão sendo realizados sôbre os minérios de ferro do Centro de Mi nas, por uma comissão mista de técni cos do Serviço Geológico dos Estados Unidos e do Departamento Nacional da Produção Mineral; os executados, da mesma forma, sôbre as jazidas de ferro e manganês de Urucum; os das minas de níquel e de coba'to de Niquelândia, em Goiás; e os dos depósitos de mine rais de pegmatito da região do Seridó, na Paraíba e Rio Grande do Norte.
E' urgente enveredar pela execução do programa acima esboçado para ^ue haja progresso no conhecimento geoló gico de nossa terra, tanto no campo cien tífico como ho econômico. E' o meio mais acertado de nos prepararmos para o estabelecimento das indústrias que usam matéria-prima mineral, e para o suprimento de produtos minerais aos mercados externos.
No momento em que baixa a nossa produção agrícola e caem a.s exportações, com a nossa balança comercial desfavorável, é para a . mineração que se voltam as nossas esperanças. Precisamos, portanto, sem perda de tempo, acelerar o melhor e mais rápido aproveita mento de nossos minerais, para atender a essas duas finalidades.
Para a execução dêsse progra ma. toma-se imprescindível do tar o Departamento Nacional da Produção Mineral de verbas mais amplas e de um corpo mais numeroso de técnicos competen tes, nacionais ou estrangeiros. E' necessário reformar o seu regi-
mento interno e criar novas carreiras para os técnicos, a fim de que ali pos.sam ser admitidos, além dos engenhei ros de minas, os graduado.s em geologia, mineralogia o paleontologia, nas facul dades de ciências e em outras escolas. Deve, também, haver uma íntima co operação com os órgãos estaduais que fazem pesquisas sôbre essas especialida des, já existentes em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e de cuja instalação se cogita em Goiás c na Ba hia. Essa cooperação deve, igualmente, eslcndcr-se às escolas superiores, como a de Minas de Ouro Preto, para a melhor utilização dos técnicos disponíveis e fotmação de novos.
Seria de enorme alcance para o nosso progresso técnico e científico a vinda de especialistas das universidades e institui ções estrangeiras para darem cm nossas escolas cursos de extensão universitária. Deveria, outrossim, ser mais freqüente a ida de jovens profcssore.s c técnicos aos centros universitários e industriais estran geiros, para tomarem conheci mento dos novos campos de pes quisas 6 dos métodos de tra balho mais aperfeiçoados e efi cientes. Essa prática, que tem fornecido nos últimos anos mag. níficos resultados em São Pau lo, precisa ser mais difundida entre nps. De sua aplicação, conjuntamente com a norma de contratar especialistas estrangei ros de alta capacidade, para as investigaç-ões científicas e técni cas entre nÔs,' só pode redundar uma messe de copiosos fnitos. Como a focalizarem a nossa atenção, destacam-se as reservas de minério de ferro da região central de Minas Gerais, as de
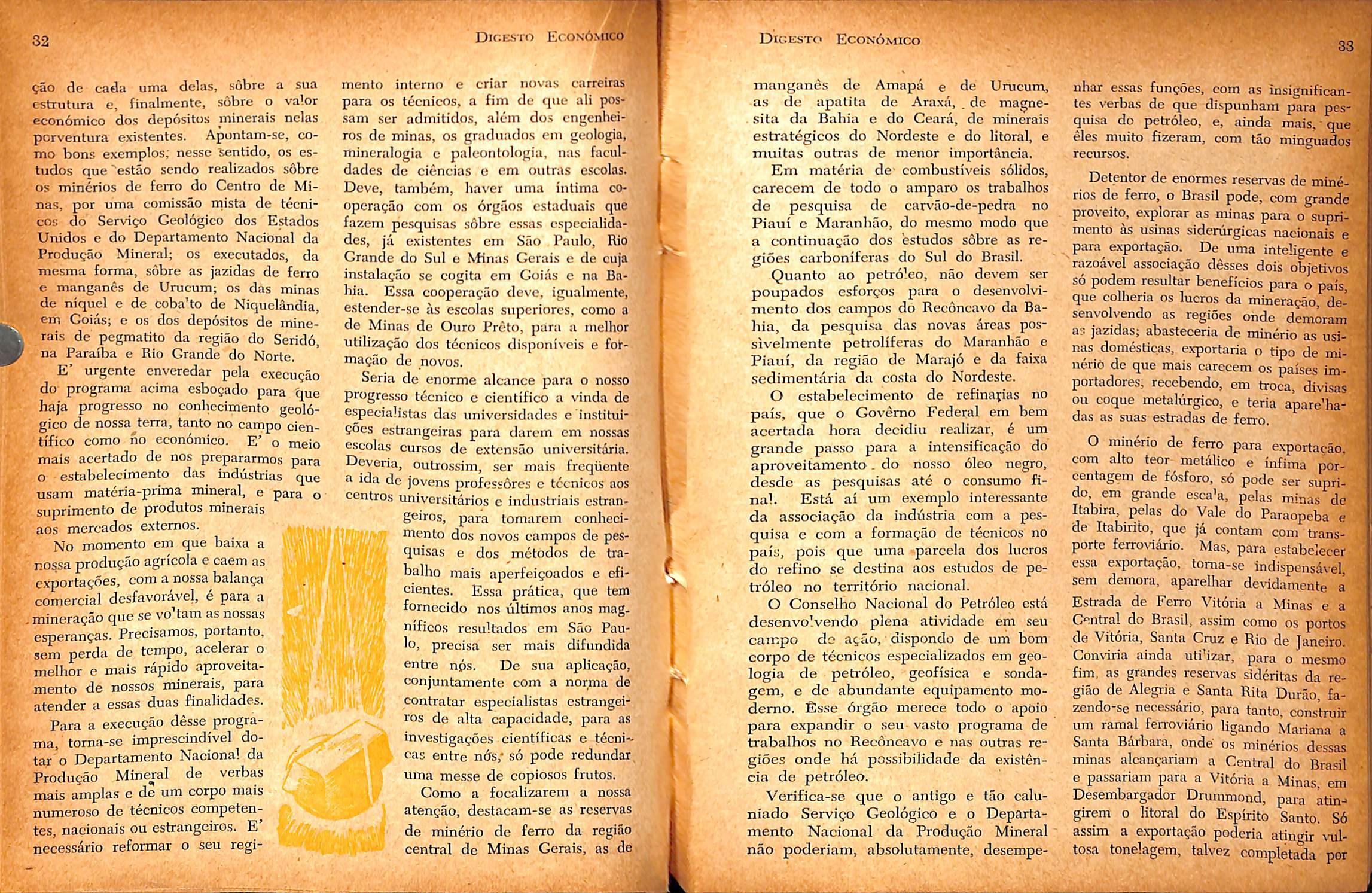
manganês de Amapá e de Urucum, as de apatita de Araxá,,de magnesita da Bahia o do Ceará, de minerais estratégicos do Nordeste e do litoral, e muitas outras de menor importância.
Em matéria de combu.stíveis sólidos, carecem de todo o amparo os trabalhos de pesquisa de carvão-de-pedra no Piauí c Maranhão, do mesmo modo que a continuação dos estudos sobre as re giões carboníferas do Sul do Brasil.
Quanto ao petróleo, não devem ser poupados esforços para o desenvolvi mento dos campos do Recôncavo da Ba hia, da pesquisii das novas áreas pos sivelmente petrolíferas do Maranhão e Piauí, da região de Marajó e da faixa .sedimenlária da costa do Nordeste.
O estabelecimento de refinarias no país, que o Govêmo Federal em bem acertada hora decidiu realizar, é um grande passo para a intensificação do aproveitamento. do nosso óleo negro, desde as pesquisas até o consumo fi nal. Está aí um exemplo interessante da associação da indxtstria com a pes quisa e com a formação de técnicos no paia, pois que uma parcela dos lucros do refino se destina aos estudos de peti*óleo no território nacional.
O Conselho Nacional do Petróleo está desenvolvendo plena atividade em seu campo de ação, dispondo de um bom corpo de técnicos especializados em geo logia de petróleo, geofísica e sonda gem, e de abundante equipamento mo derno. Êsse órgão merece todo o apoio para expandir o seu vasto programa de trabalhos no Recôncavo e nas outras re giões onde há possibilidade da existên cia de petróleo.
"Verifica-se que o antigo e tão calu niado Serviço Geológico e o Departa mento Nacional da Produção Mineral não poderiam, absolutamente, desempe-
nhar essas funções, com as insignifican tes verbas de que dispunham para pes quisa do petróleo, e, ainda mais, que êles muito fizeram, com tão minguados recursos.
Detentor de enormes reservas de miné rios de ferro, o Brasil pode, com grande proveito, explorar as minas para o supri mento às usinas sidemrgicas nacionais e para e.vportação. De uma inteligente e "razoável associação desses dois objetivos só podem resultar benefícios para o país, que colheria os lucros da mineração, desenvoh'endo as regiões onde demoram as jazidas; abasteceria de minério as usi nas domésticas, exportaria o tipo de minériò de que mais carecem os países im portadores, recebendo, em troca, divisas ou coque metalúrgico, e teria a'pare'hadas as suas estradas de ferro.
O minério de ferro para exportação, com alto teor metálico e Ínfima por centagem de fósforo, só pode ser suprido, em grande esca'a, pelas m'"nas de Itabira, pelas do Vale do Paraopeba e de Itabirito, que já contam com trans porte ferroxiárío. Mas, para estabelecer essa exportação, toma-se indispensável, sem demora, aparelhar devidamente a Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Central do Brasil, assim como os portos de Vitoria, Santa Cruz e Rio de Janeiro. Comdria ainda uti'izar, para o mesmo fim, as grandes reservas sidéritas da re gião de Alegria e Santa Rita Durão, fazendo-se necessário, para tanto, construir um ramal ferroviário ligando Mariana a Santa Bárbara, onde os minérios dessas minas alcançariam a Central do Brasil e passariam para a Vitória a Minas, em Desembargador Drummond, para atin girem o litoral do Espírito Santo. Só assim a exportação poderia atingir vul tosa tonelagem, talvez completada por
Igusa, minério sínterizado e fcrro-ligas, importando-se, de retorno, coque meta lúrgico.
As usinas nacionais a carvao de ma deira usam, em geral, os minérios de mais fácil redução, como canga e itabirito, e um pouco de hematita, nos for nos de aço. Agora, estão começando a adotar o processo da sinterização dos minérios friáveis, economÍ2uindo, deste modo, os finos do minério e do carvão e aumentando o rendimento do alto forno.
Um plano racional de aproveitamento de nossos minérios de ferro seria fazer a lavra visando, ao mesmo tempo, a ex portação e o suprimento de minério às tisinas indígenas. O minério seria ex traído e britado, destinando-se os finos resultantes dessas operações e o miné rio friável à preparação de sínter para os nosSos altos fornos; o minério com pacto, graúdo, destinar-se-ia à expor tação, e uma pequena parte aos for nos de aç-o das usinas domesticas.
A vinda de coque metalúrgico do es trangeiro, de retôrno, não interferiria com a nossa mineração de carvão no Sul do Brasil, pois as minas, ali, com ex ceção de uma parte das de Santa Ca tarina, não podem fornecer carvão para coque, mas apenas para vaporização e outros usos. As minas de carvão coqueificável de Santa Catarina já estão comprometidas e preparadas para o abas tecimento dêsse produto à usina de Vol ta Redonda, que aparelhou algumas das minas ali e montou uma grande insta lação para lavagem de carvão.
O carvão que tiver de ser importa do do estrangeiro, de retorno, nos navios que levarem minério de ferro, deve vir, pois, principalmente sob a forma de co que, beneficiando as usinas siderúrgicas do interior de Minas Gerais, com a eco
nomia e maior duração de suas reservas florestais. •
Devamos, portanto, não deixar passar a presente oportunidade, «piando cami nham paru rápido esgotamento as rcser\'as de minério de ferro de bom teor dos Estados Unidos, paru aparelhar as nossas estradas de ferro e as minas dc inlcròsse para a exportação. A meiios que se de senvolva suficientemente o aproveita mento do taconito — minério de ferro de baixo teor, muito sficoso, próximo ao jaspililo, e que necessita de um beneficiamento todo especial, complexo e custoso — esse pais terá que importar minério de ferro, talvez uns 60 milhões de toneladas, dos países mais próximòs que os possuem em larga escala c que são o Brasil, o Canadá o a Venezuela, no continente americano, sem falar dos miuerios laterítícos, baixos, de Cuba, e dos ^nerios ricos da região de Costa de Serra Leoa e Libéria, nu África. a.s e preciso que encaremos o proble-
realismo ,e com espirito de H acle, para possamos contar ca^t f colaboração, nesse campo, do '] estrangeiro, já tornada possível rn ^ Federal. Para que se essa disposição legal, é preaver um ambiente de confiança e Doa vontade, tudo em harmonia com os grados interesses nacionais. Com in compreensão e agitação estéril, nada é possível realizar, apesar dessa faculdalei magna,' m relação ao manganês, só devemos permitir a saída franca dos minérios das
^T^d' l^rucuni. em Mato Grosso, e ° Aniapá, por constituirem enor- "íes reservas e se acharem muito distan■^ 'íi as dos centros sidenlirgicos nacionais. ® jazidas da região central de Minas Ge rais devem ficar reservadas para o abas^cimento da nossa siderurgia ou só ser í
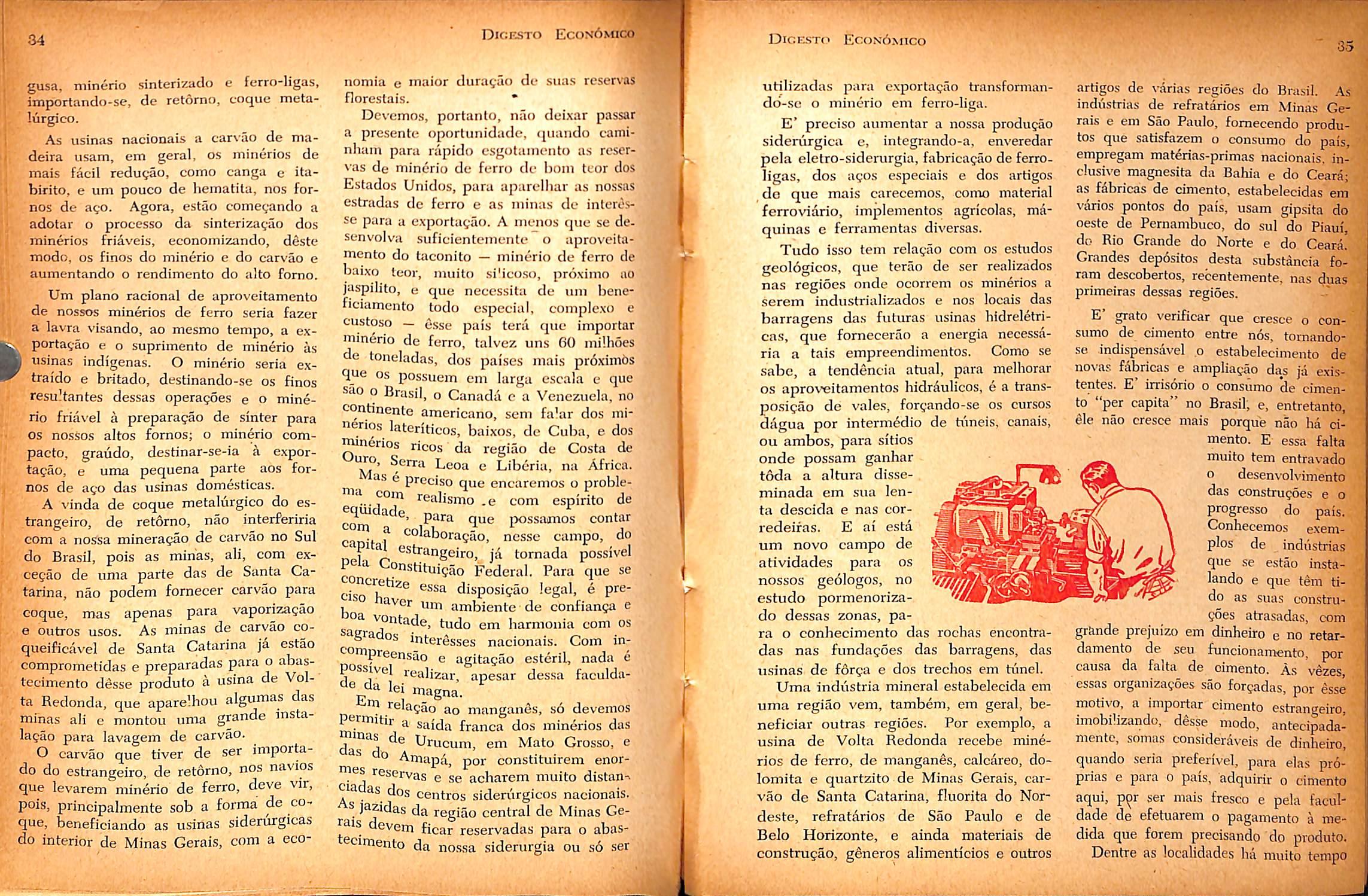
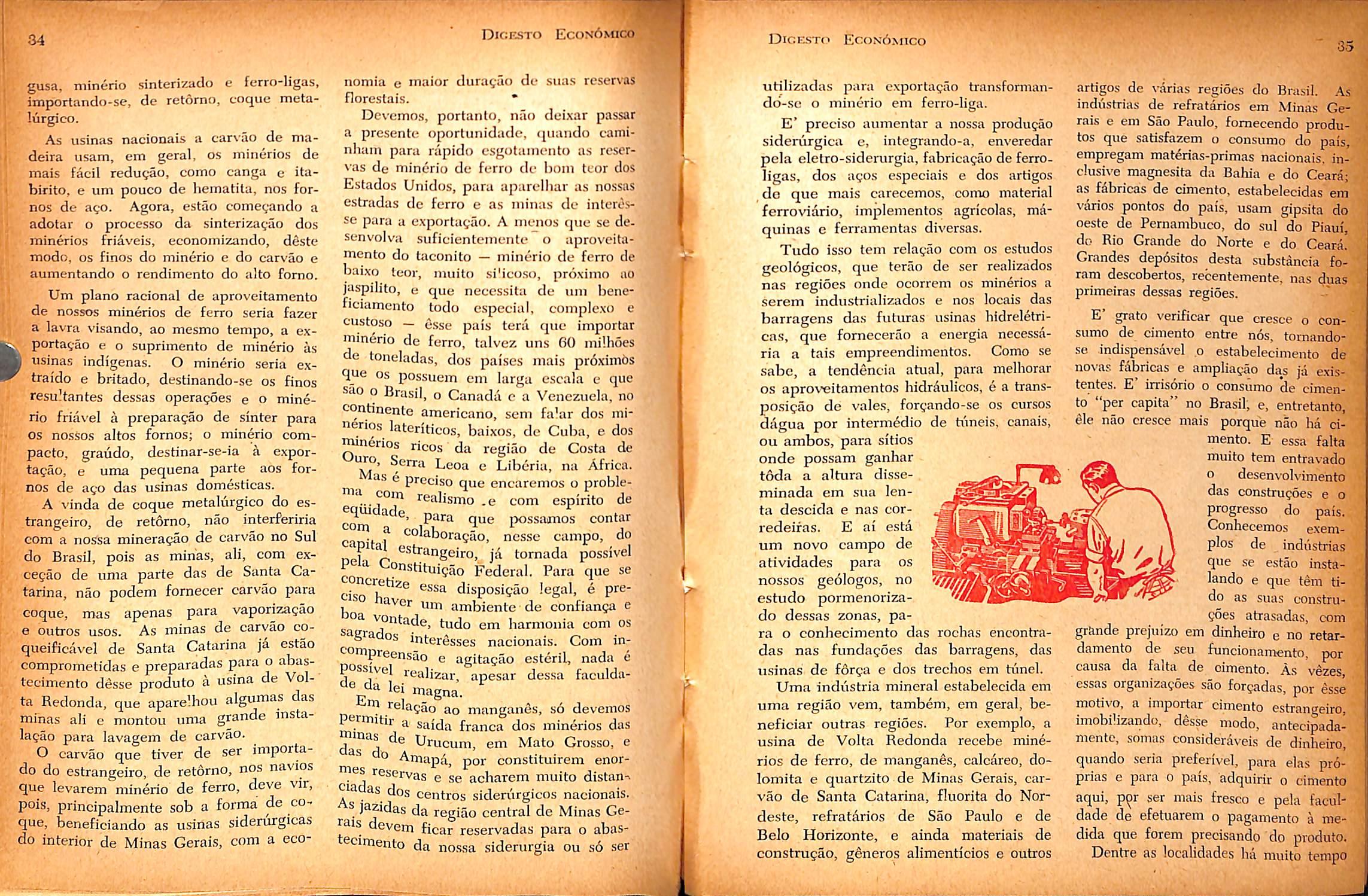
utilizadas paru exportação transforman do-se o minério em ferro-líga.
E' preciso aumentar a nossa produção siderúrgica e, integrando-a, enveredar pela eletro-sidenirgia, fabricação de ferroligas, dos aços especiais e dos artigos de que mais carecemos, como material ferroviário, implementos agrícolas, má quinas e ferramentas diversas.
Tudo isso tem relação com os estudos geológicos, que terão de ser realizados nas regiõe.s onde ocorrem os minérios a serem industrializados e nos locais das barragens das futuras usinas hidrelétri cas, que fornecerão a energia necessá ria a tais empreendimentos. Como se sabe, a tendência atual, para melhorar os aproveitamentos hidráulicos, é a trans posição de vales, forçando-se os cursos dágua por intermédio de bineis, canais, ou ambos, para sítios onde possam ganhar tôda a altura disse minada em sua len ta descida e nas cor redeiras. E aí está um novo campo de atividades para os nossos geólogos, no estudo pormenoriza do dessas zonas, pa ra o conhecimento das rochas encontra das nas fundações das barragens, das usinas de força e dos trechos em túnel.
Uma indústria mineral estabelecida em uma região vem, também, em geral, be neficiar outras regiões. Por exemplo, a usina de Volta Redonda recebe miné rios de ferro, de manganês, calcáreo, dolomita e quartzito de Minas Gerais, car vão de Santa Catarina, fluorita do Nor deste, refratários de São Paulo e de Belo Horizonte, e ainda materiais de construção, gêneros alimentícios e outros
artigos de \árias regiões do Brasil. As indústrias de refratários em Minas Ge rais e em São Paulo, fornecendo produ tos que satisfazem o consumo do país, empregam matérias-primas nacionais, in clusive magnesita da Bahia e do Ceará; as fábricas de cimento, estabelecidas em vários pontos do pais, usam gipsita do oeste de Pernambuco, do sul do Piauí, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Grandes depósitos desta substância fo ram descobertos, recentemente, nas duas primeiras dessas regiões.
E' grato verificar que cresce o con sumo de cimento entre nós, tornandose indispensável o estabelecimento de novas fábricas e ampliação das já exis tentes. E' irrisório o consumo de cimen to "per capita" no Brasil, e, entretanto, ele não cresce mais porque não há ci mento. E essa falta muito tem entravado o desenvolvimento das construções e o progresso do pais. Conhecemos exem plos de indústrias que .se est<âo insta lando e que tèm ti do as suas constru ções atrasadas, com grande prejuízo em dinheiro e no retar damento de seu funcionamento, por causa da falta de cimento. Às vêzes essas organizações são forçadas, por ésse motivo, a importar cimento estrangeiro, imobilizando, dêsse modo, antecipada mente, somas consideráveis de dinheiro, quando .seria preferível, para elas pró prias e para o país, adquirir o cimento aqui, pçr ser mais fresco e pela facul dade de efetuarem o pagamento à me dida que forem precisando do produto. Dentre as localidades há muito tempo
fá-
cogitadas para a instalação de unia noa ^ e cimento, vamos mencionar, pe las circunstancias especiais que a ro^/idade de Salvador. A maior dificuldade encontrada para isso residia na a a e calcáreo a uma distância razoave^ da capital da Bahia, pois essa materia-pnma so era conhecida, em gran de quantidade e qualidade adequada, em pontos bastante afastados, no intenor ou na costa. Surgia então a idéia de j ° ca careo dos recifes de corais, P5°""iidades de Salva dor na costa, como no Nordesle, de um
^^a^verifV as pesquisas ^nrnnf 1 reservas de coral ^contradas nas prox-imidades da ilha da Marc, no Recuncavo, que tudo parece
se situa a Cachoeira de Paulo /Vfonso. quando as instalações hidrelétricas ai projetadas c.sliverem conc'iudas c puder ser obtida energia farta e a baixo pre ço, poderá .ser a sede de importantes indústrias que utilizem matérias-primas minerais.

"I enormes. Os recifes, que nesse local sã
o cobertos por um lençol dagua de 2 a 8 metros de profundida de, seriam arrebentados por dinamite. O material quebrado seria extraído por draga e transportado para a zona de Aratu, onde se instalaria a fábrica, que con sumiria gás do campo petrolífero dessa localidade. E' _ muito interessante esta solução, que viria dar o cimento de que .tanto necessita toda a vasta região ser vida pelo porto da cidade de Salvador. A fábrica teria excelentes condições de sobrevivência, sobretudo por causa do transporte marítimo do cimento recebi do de fora e mais ainda devido ao enor me ônus trazido pelo serviço de carga e descarga a todas as mercadorias que transitam por esse porto.
Outras fábricas de cimento, usando a mesma matéria-prima, poderão ser ins taladas futuramente em outros pontos da costa do Nordeste, onde abundantes são os recifes de corais, como em Ala goas, Rio Grande do Norte e Ceará.
A região do Rio São Francisco em que
Poderão ser montadas aí fábricas para produção dc fcrro-lígas, usando os mi nérios de cromo c manganês da Bahia, a cliclita, a lantalita e o berilo do Rio Grande do Norte e da Paraíba; refratários, empregando os doloniilos da região do Rio do Sal, perto de.Paulo Afonso, e de Curitiba c Pôrto da FôMia, em Sergipe, e o.s arenitos silicificados ("ganisler") das serras de -Tacaratu e Itaparica; cerâmica e abrasivos, pedras para construção e ornamentação; ferti lizantes e outras. Na zona du caclioeim, há abundância de fcldspato obtido dos pegmatitos c aplitos, e belíssimos tipos de granito róseo c vermelho e .'•ienitos que poderão fornecer pedras orna mentais, comparáveis ao granito de Itu, granito preto" (gabro) da Tijuca • e aos sienitos dc Poços de Caldas. As fábricas de fertilizantes poderão ser ins ta adas em Sergipe, onde há abundantos depósitos, calcáreos para produção de cianamida cálcica, bem como em ou tros pontos da costa. Também, se apa recerem sais potássicos e enxofre na Sé rie Jatobá, em Pernambuco e Bahia, po derá ser prevista a fabricação de outros fertilizantes, em que esses elementos se jam essenciais. Com transmissão de ener gia elétrica até a região de Bomfím, na Bahia, poderia ser realizada a industrialização dos minérios de cobre da região, bem como dos de ferro dá parte mé dia do Rio São Francisco, que poderiam ser transportados para êsse ponto. Seria, entretanto, preciso conjugar os esforços f

dos órgãos especializados do govêmo para dotar a região de água, por meio dc açudagcm e de transportes adequa dos.
A agricultura extensiva, como a que praticamos, sem o emprego .de adubos, não compensa e é em geral anti-económica. Só a agricultura racional, com o uso dc fertilizantes e de mecanização, podo melhorar a situação alimentar afli tiva de nosso povo e permitir a expor tação de produtos de origem vegetal.
E' preciso mudar, quanto antes, a ca pital da RepúbMca para o interior do país, como preceitua a Constituição Fe deral. E ali devem ser criadas uma fa culdade de ciências o uma_ escola de engenharia de minas, ou então, transferir a de Ouro Preto para lá. Há toda vantagem em dotar a futura capital de escolas de onde possam sair geó'ogos e engenheiros de minas, pois, estando lo calizadas na parte central do pais, elas virão contribuir muito para o desenvol vimento daquela região, facilitando o estudo das regiões menos conhecidas e mais afastadas do país e a obtenção de dados para as futuras indústrias basea das em matérias-primas minerais.
A êsse propósito, va'e lembrar quantas surpresas nos trou.xe o Amapá, com a revelação de suas possantes jazidas de manganês e de ferro e de ocorrências dc tantalita e de cassiterita.
Sendo a têrça parte da área do terri tório nacional ocupada pelo complexo granito-gnáissico, em certas, regiões abundantemente cortado por diques de pegmatito, são grandes as possibilidades de descobrirmos reservas importantes dos minerais utilizados na produção de energia atômica. Faz-se mister intensi^ V.^ ;5 <>, :** ." - • *
ficar a pesquisa geológica meticulosa das áreas mais promissoras a êsse res peito, onde já se conhecem ocorrências desses minerais, pois precisamos visua lizar o emprego da energia atômica en tre nós, no futuro, para fins pacíficos e para a defesa nacional.
Por aí se vê que muito há que estu dar e descobrir na enorme área do ter ritório nacional. E' urgente, portanto, pesquisá-la com denodo e sem esmorecimento, com toda a intensidade possível. Há, para consegui-lo, uma grande falta de geólogos, petrólogos, palcontologistas e engenheiros de minas, que preci sam surgir e ser apro\'eitados, venliam de onde quer que seja, do país ou do estrangeiro, contanto que possuam as ha bilitações indispensáveis para o desem penho de suas funções técnicas especia lizadas. Os dispositivos legais que regu lam b exercício das profissões e os re gimentos dos órgãos pficiais incumbidos dos estudos e trabalhos de geologia e de indústria, mineral devem visar, primor dialmente. o interesse da coletiridade, ao invés de estabelecerem privilégio para o indivíduo, garantindo e amparando a boa técnica e, ainda, atendendo ao de senvolvimento do país. Para o provi mento efetivo dos cargos técnicos, ado te-se a norma moralizadora dos con cursos.
Detivemo-nos mais sobre a geologia éccnóniÍGa e sobre a industrialização, no país, dos nossos recursos minerais, por que julgamos ser êste o melhor meio de promovermos o progresso do Brasil e a elevação do baixo padrão de vida de seu povo. Precisamos sair da situação caótica em que nos.encontramos. Afas temos as pedras do caminliol
1. — O intervencionismo do Estado não é um sistema econômico, mas produto da eventualidade

IModernamente assiste-se a uma in gerência constante do Estado na vida econômica, que de uma simples proteção, no início, se transformou num do mínio quase integral da economia, como na Alemanha e Itália fascistas. Esta in tervenção levou certos autores a pensar na existência de um novo sistema inter mediário entre o capitalismo e o socia lismo. Contudo, isto não se verifica Não se pode falar em intervencionismo de Estado como sistema econômico, pelo menos atualmente. Esta intervenção é filha das situações econômicas, sociais e políticas em que se encontraram as nações modernas depois da Primeira Grande Guerra, agravada pela crise de 1929. Foi na contingência de salvar as economias nacionais que os Estados fo ram levados a intervir na vida econômi ca, a fim de proteger a mesma, evitan do cataclismas fatais. De fato, se fizer mos um exame das razões que determi naram o entranhamento do Estado na vida econômica, veremos que foram sem pre, ou no mais das vêzes, as circuns tâncias aflitivas de penúria em que se encontravam tôdas as classes do país. E na maioria das vêzes não partiu do motu proprio, mas foi solicitada pelos próprios particulares. Assim é que o govêmo francês viu-se forçado a assumir os déficits das estradas de ferro de seu país, a partir de 1927. O mesmo se pas sou nos Estados Unidos: pela Recons-
truction Finance Corporalion, as estradas dc ferro entraram definitivamente na fa se de serviço público. Idêntico fim ti veram tôdas as companhias dc navega ção tanto aéreas como marítimas.
No setor da agricultura o Estado foi solicitado a tomar medidas protetoras contra o excesso de produção, que leva va a uma baixa contínua dos preços. São o Farm Board e o Agricultura! Adjustment Act nos Estados Unidos, é o ar mazenamento do trigo e do vinho cm França, c a revalorização do café no Brasil.
O desemprego em massa nos países industriais europeus e nos Estados Unitlos forçou os mesmo.s a empreenderem grande.s con.struções nacionais para colo carem os milhões de scm-trabalho. Poemos citar como medidas protetoras a bmergency Work Relíef, Work's Progress Administratíon, Civil Work Admínís^ation, nos Estados Unidos; a Spe- cial Áreas Act, na Inglaterra; as cons truções das estradas de rodagem e os 3.767 milhões de RM para outras obras, na Alemanha. Ao lado dessas grandes • realizações, os governos empreenderam ainda uma'política de aumento de salá rios, tais como os Códigos Roosevelt e Os Acordos Matignon, com o fito de re fazer o poder aquisitivo dos trabalhado res, ao mesmo tempo que procuravam elevar o preço dos produtos agrícolas, a f^m de melhorar a capacidade aquisi tiva dos agricultores, principalmente dos pequenos, cujo poder aquisitivo havia decaído de 50% nos Estados Unidos. A própria Inglaterra, que apenas obtém

de suas terras 10% dos produtos agríco las que consome, tentou uma revaloriza ção agrícola com os Marketing Schemes. No mesmo sentido ainda vamos encon trar a política de deflação seguida pela Alemanha — a experiência Bruning e pela França — a experiência Lavai para diminuir o preço de custo dos pro dutos tanto agrícolas como industriais. No campo da moeda, que no liberalis mo era considerada como neutra e cuja única finalidade consistia em pagar, me dir e conservar valores, vemos a infiltra ção do Estado quo, para atenuar as oscilações cícli cas, interferiu diretamente no valor metálico corresponden te, diminuindo-o. Assim, os E.U.A. conferiram ao dólar uma nova relação, inferior a antiga, em 39,94%. A Fran ça fixou primeiro os limites entre os quais podia oscilar o franco em relação ao ouro, de 43 a 49 miligramas, e aboliu em seguida o limite inferior. Na Inglaterra se guiu-se política contrária, ao desligar a libra do ouro, que pôde variar em relação as outras moe das, sem nenhuma restrição, chegando nas contínuas desvalorizações a uma depreciação de 40% em relação ao dólar.
Poderíamos citar muitas outras inter venções estatais, mas estas já mostram que as ingerências governamentais fo ram sempre forçadas pelas situações econômicas, históricas, prindpalmente das do pós-guerra, onde impérios eco nômicos desapareceram para dar lugar a outros impérios, onde a in/'ação, leva da a somas astronômicas, afetou profun damente as fortunas e alterou as classes sociais. Contudo, para finalizar, citarei a causa mais importante da intromis-
são do Estado na vida econômica e que demonstra com e\'idência extraordinária a tese que sustentamos: o próprio con flito de 1914-18. E' que as guerras modernas deixaram de ser lutas de ho mem contra homem, e a sorte da vi tória de Se decidir nos campos de ba talha. Hoje, o que decide a vitória é a produção bélica, e, portanto, o poder econômico das nações, levando por isso a um controle, por parte do Estado, de tôdas as atividades econômicas, criando o que se veio chamar "economia de guerra", onde o lucro desa parece em face da finalidade mais elevada — a defesa ex terna da nação. Terminada a contenda de 14-18, o Esta do não pôde voltar imedia tamente atrás, abandonando as atividades econômicas, bastante prejudicadas, à sua sorte. A década do pósguerra foi caracterizada por um esfôrço deliberado para restabelecer o sistema do "laisser faire", que era geral antes de 1941. Entretanto, a depressão econômica que ir rompeu em 1920 destruiu a esperança de se o atingir. A partir desse momento a maioria dos países sofreu múltiplas e diferentes intervenções, forçadas, como disse, pelas dificuldades econômi cas e financeiras em que se encon travam. E no momento atual tôdas as forças estão ainda, nos seus menores de talhes, subordinadas aos antigos gover nos beligerantes. Neste pós-guerra serão por certo enormes as dificuldades para voltar novamente ao liberalismo econô mico, mas daí não devemos concluir, co mo muitos autores, que o intervencionis mo seja a nova forma de economia e o sistema econômico do futuro. Acredi-

íamos ser apenas uma questão de tempo. Aiás, nos E.U.A. è na In glaterra o govcmo e os industriais, prevendo as dificuldades futuras, já estão promovendo estudos profundos para a adaptação dé* sua economia ao tempo de paz. Como diz Bidabehere: "En ei supuesto de que Ia crisis, coriio muclias otras, sea transitória, tambien Io será Ia intervención dei Es tado y quienes Ia pidieren no lian su puesto otra cosa. Por Io tanto no consH• tuira doctrina ei nuevo sistema ni se permitira como permanente en paises de regimen parlamentario o democrático por cuanto !os ciudadanos no se priva-
de su liberdL; y
ei direccionismo". tal como re practíno snpene otra cosa que una dictadura econômica. SI no Io fuera no seria possible cumplir los propósitos de bien social que el Estado persigue. Para poder aplicar Ias medidas de reorganización y control hacen falta poderes ex traordinários, díctatoriales. Ási le han entendido Stalin, Roosevelt, Hit^.er y Mussolini."
2. — Conio deve ser encarado o interoenciànismo
Ao negarmos a existência do inter vencionismo como sistema econômico, de princípios próprios, isso não nos leva a repudiar a ingerência do Estado na vida econômica. Acreditamos que uma certa dose de intervenção estatal é necessária, residindo a dificuldade na fixação dos princípios e na delimitação do campo de intervenção. Achamos que o "Estado-gendarme" não mais é possível; pensamos ser a concepção de A. Smith, desvirtuada pelos liberalistas do século passado, a única solução verdadeira pa ra o problema em questão.
Ao Estado não incumbe apenas a ma
nutenção da ordem inlernu c c.xterna, como queriam os liberalistas do sécu'o XIX. A êlc cabe também uma tarefa muito maior, qual seja manter trabalhos o instituições públicas que ultrapassem o alcance das inicialivas privadas, já por .serefn muito custosas, já por exigirem um certo prestígio e influência coletiva, bem como, em menor dose, força obriga tória. Desta maneira, Smith coloca per feitamente o problema da inter\'enção, apontando-a como justa e necessária sempre que visar um interesse geral da coletividade e não pudor ser realizada pelos particulares. Aliás, a Constitui ção brasiVdra de 193.1 adotou semelhan te princípio, (juando estabeleceu no arti go 135 que a ação do Estado na econo mia ô supletiva. Portanto, podemos estixbelecer o princípio básico do interven cionismo — esta ação supletiva do Estado. Porém, c preciso fi.var-se bem o que se deve entender por ação supletiva, porque tudo pode estar agasalliado nes sa fórmula geral. O problema, como muito bem diz Pigou, "não reside em Se saber se o Estado deve ou não inter vir, mas sim, sob que princípios, até que
® sobre que setores da vida eco nômica deve realizar a sua intervenção".
O princípio geral da intervenção do Estado na economia reside na defesa dos interêsses coletivos é permanentes da na. çao, devendo-se entender por interêsses coletivos permanentes os que não só per tencem à totalidade dos consumidores presentes, mas também os que assegu ram o bem-estar da.s gerações futuras • c a continuidade histórica dos países. Nessa defesa o Estado pode e deve agir, quer na qualidade de legislador, quer na de empreendedor. Até que ponto e sobre que setores da vida eco nômica deve realizar a sua intervenção, não compete à teoria econômica deli-

mitar, porque, como escreve muito bem Pigou, "sua tarefa é estudar o que ten de a acontecer, investigar as relações entre as cau.sas c efeitos, analisar a intervenção das forças opostas. E' uma ciência positiva o não normativa". Essa tarefa incumbe a cada riação, segundo o seu progre.sso econômico, probjema.s e normas constitucionais, como também segundo as condições históricas do mo mento em questão, isto é, periodo de crise, de guerra, ou normal.
3. _ A intervenção no Brasil e seus limites
No Brasil, ]^aís onde tudo está ainda por fazer, incumbe ao Estado uma função imensa, qual seja a de forjar a estrutura definitiva da nossa economia. Para isso seria necessária uma interven- '/■. ir.,"----:—
ção direta na economia? Seria preciso um planejamento, pii uma economia diri gida? Penso justamente o contrário. Os planismos e dirigismos dão apenas lugar a especulações e poucos resultados prá ticos. Além do mais, esses sistemas não se aplicam à realidade brasileira. São frutos de situações históricas e econômi cas peculiares a nações plenamente de senvolvidas 6 velhas econòmicamente, que se debatiam com problemas inteira
mente desconhecidos ao nosso meio, tais como o desemprêgo,^a superprodução e as nefastas conseqüências da Primeira Grande Guerra, ou então por nações que se pretendiam preparar para uma futura guerra.
Também não nos filiamos à corrente daqueles que pregara a transformação do Estado político brasileiro em Estado econômico, e pensam que a "reconstru ção do Brasil só pode ser tentada com probabilidade de êxito dentro dos qua dros atuais da civilização, que se vão criando sob a Influência de uma redistribuição completa dos \ alores sociais e econômicos". Muito pelo contrário, achamos que todos esses estrangeirismos não se aplicam ao Brasil, e se qui sermos construir o travejamento definiti vo da nossa economia, leremos que no.s voltar sobre a própria rea idade brasilei ra, indagar das causas do nosso mal-estar e do nosso atraso econômico, e verificar quais os meios a seguir, ca bendo ao .Estado apenas o papel de grande incentivador, orientador e auxiliador das iniciativas particu'ares. Um dos pontos principais 'da política a seguir é o de incrementar por todos os meios a formação de capi tais. Êstcs são os únicos mo tores da máquina produtiva. O Brasil é ainda um país de subcapitais, daí pro vindo uma das causas essenciais do seu atraso. Se os E.U.A. são uma grande nação, devem isso aos seus admiráveis recursos naturais, que facilitaram a colo nização e uma rápida e.xpansão agrícola e industrial, a importação e formação de capitais e até o aparecimento na ocasião mais oportuna de riquíssimas minas de ouro e prata. Foi com o numerário pro"

veniente dessas fontes que puderam criar o seu parque industrial e explorar as suas jazidas minerais, bem como estender os trilhos das suas vias férreas.
O Brasil carece do elemento íine qua non do seu progresso: o capita!. Portan to, deve envidar todos os esforços para criá-lo, e não antepor barreiras à sua formação, porque só com êlc é que po derá desenvolver a. produção e explorar as suas riquezas, ao mesmo tempo que elevar o nível econômico de vida. Mas para isto, é necessário forjar o Estado um ambiente de segurança, de estabi lidade e continuidade, a fim de inspi rar confiança, e assim criar êsse fator psicológico favorável às inversões dos escassos capitais brasileiros e dos imen sos capitai.s internacionais na produção industrial e agrícola, fontes emanadoras de capital.
Formado êsse clima psicológico, o Estado terá realizado a sua maior fun ção na economia, porque terá dado aos industriais e agricultores confiança e in centivo nos empreendimentos. O inte resse individual ainda é o motor de maior potência na atividade econômica.
Daí a razão pela qual o Estado deve manter a máxvna liberdade no tocante à iniciativa individual, dando campo e motivando a sua expansão, bem como de!xá-'a ao sabor da livre concorrên cia, mola impulsionadora do progresso econômico e elemento principal do dinami.smo econômico. Aliás, a Constitui ção brasileira estabelece no artigo refe rido que: "na iniciativa individual... funda-se a riqueza e a prosperidade na cional". Estas duas liberdades se completam. Eliminar uma ou outra é trans formar a economia brasileira em eco nomia estática, o que vale dizer, secar a fonte da vida econômica do Brasil.
• Ao lado dessa política propíciadora
a formação de capitais, incumbe ao Es tado impulsionar a industrialização de nossa produção, Sô êlc é capaz de ele var a renda nacional e aumentar o ní vel de vida. Mas para dar maior ex pansão ao nosso parque produtor são necessárias certas indústrias indi.spensáveis, as chamadas básicas, scin as quais não conseguiremos a nossa independên cia econômica. Estas, cm \irtude do custo elevado e da coricorrcncia estran geira, só pode florc.scer amparada pelo Estado. O mesmo se pode dizer com re lação aos meio.s de tran.sportes. que es tão exigindo um carinho muito especial do Estado.
No Brasil há uma necessidade premen te de meios de transporte. A enorme exten.são territorial e a configuração geo gráfica elevam e.xtraordinàriamente o preço de custo das estradas de ferro, enquanto que as mercadorias a trans portar não comportam altos fretes. De vemos ainda considerar que a tendência universal é pela gratuidade dos trans portes, a fim de abaixar o preço de custo das mercadorias. Portanto, seria de Se desejar que o Estado brasileiro, a exemplo do que faz nas estradas de rodagem, construísse as vias férreas, pa gando o seu preço e o sustento por meio de impostos. E' claro que não se pode. estender êsse regime a tôclas as ferro vias, mas só àquelas que sc destinassema percorrer centros ainda não integra dos na vida econômica, tais como oi oeste brasileiro.
O fornecimento de energia, por vi sar a todas as forças produtoras, e ser fator preponderante da indústria moder na, requer do Estado todo o amparopossí\'el. O futuro econômico do Bra sil, país de carvão pouco abundante ede difícil acesso, depende sem dúvidanenhuma da energia elétiica, mesmo por-

que a eletricidade está dia a dia suplan tando o carvão.
Ao go\-êrno incumbe ampliar por sua própria iniciativa ou facilitar por meio de créditos, subvenções, legislação, as "fontes de energia elétrica em todo o ter ritório brasileiro.
Além dessas obras essenciais, outras ainda e.vistem, tais como; telégrafo, cor reio, fornecimento dc água e esgoto, que, pela sua própria natureza, requerem sejam executaclos pelo Estado.
Fora dêsse campo limitado, pensamos que tôda intervenção do Estado é pre judicial, levando a uma exacerbação do nacionalismo e às suas funestas conse qüências, bem como e.vigindo governo forte, para não dizer ditatorial. Como prova, aí está um dos países mais li berais - os E.U.A - ser forçado a con ceder grandes somas de poderes ao exe cutivo, a fim de realizar uma po lítica p^aníficada, o New Deal. Pensamos, portanto, que a li berdade de iniciativa, o interes se pessoal, a livre concorrência e a responsabilidade pessoal de vem ser mantidos. Esses prin cípios não pertencem apenas ao liberalismo, são princípios humanos, ge-
Lièerdade, porém, não implica em se fazer o que se entender. Em nome do próprio bem coletivo e permanente, exi ge-se uma regulamentação. Só que esta não implica no asfixiamento da vida eco nômica; pelo cohtrário, significa esta belecer ordem nas atividades econômicas.
Os interesses particulares nem sempre coincidem com o interesse coletivo; daí ã necessidade de uma certa organizáção na economia, de maneira a evitar que os interesses individuais sufoquem os da coletividade. Assim, as leis traba lhistas, a promoção de melhores condi
ções lúgiênicas, de habitações e alimen tação às classes desprotegidas, o salário mínimo, a mellioria do nível de \-ida, o crédito à agricultura e à indústria, as leis sobre imigração, a perseguição ao monopólio, a instrução técnica dos ope rários, são regulamentações que \asam o bem-estar coletivo, e não restrições à iniciativa individual ou ingerência na vida econômica dos estabelecimentos de produção. Essa restrição ou intromis são é que é perniciosa, porque afeta a organização interna das empresas, e por isso traz a desorganização da produção e com ela o desânimo, inimigo número um do progresso econômico.
O Estado, ao inteivir nos setores aci ma apontados, deve fazê-lo sempre atra vés das associações de classe. São elas que estão em contato direto com os elementos produtores, conhecendo per: feitamente as suas necessidades, problemas e dificuldades. Um pais de poucos recursos, como o Brasil, não pode estar despen dendo os seus haveres em obras que não revertam em benefício da sua economia. Todos os in vestimentos de capitais, como tôdas as regulamentações estatais na eco nomia, devem ter em vista o alcance que estas medidas trarão na conjuntura eco nômica. As associações de classe são os órgãos que melhor podem orientar o govêmo, mostrando os setores em que as aplicações de capitais e as medidas prote toras se traduzem num aproveitamento eficiente para a produção e beneftciamento do progresso econômico do país
Além dessas medidas disciplinadoras, cabe ainda ao Estado a importantíssima função de orientador e auxiliador das atividades econômicas.
O Brasil está exigindo o reerguimento das condições técnicas da sua produção.

Essa obra, porém, não pode ser realiza da isoladamente, mas, sim, num movimente geral, dirigido por órgãos compe tentes não s6 no conhecimento cientifico da obra que empreendem, como na con jugação de elementos realizadores. E' nesta conjugação que reside o fator principal da transformação tecnológica, transformação essa tão importante que, como diz o relatório da comissão mis ta americano-brasileira, "promete modi ficar o Brasil tão ràpidamente quaoto o foi á Inglaterra, no século XVIII, pda revo'ução industrial". Se não houver direç-ãò e congregamento, o parque in' dustrial brasileiro, por exemplo, perma necerá na mesma situação de antes da guerra de 1939, isto é, quase uma aven tura no terreno fabril, como outras tan tas aventuras foram a borracha e o café.
Porque, é necessário que se diga, a evolução industrial do Brasil foi olDra empírica, sem preparo quer de ordem, técnica, quer dc ordem econômica; daí os erros que, aliás, não pertencem ape nas ao passado.
Impõe-se o desenvolvimento de órgãos especializados, com economistas peritos, que possuam um conhecimento perfeito do movimento da nossa vida econômi ca, 6 assim capazes de mostrar qual a direção que deveria tomar o ritmo dos nossos negócios e quais as medidas que caberia adotar. Não., se pense que a fôrça econômica dos Estados Unidos e • da Europa nasceu de improviso. Há, atrás dela, todo um passado de expe riência e todo um acúmulo de conheci mentos, e, principalmente, a orientá-la no presente, um vasto arcabouço cien tífico, sociológico e econômico, coorde nado por departamentos especializados, que a projeta continuamente para um futuro cada vez mais rico de possibi lidades.
Entre nós nada há de semelhante. Tòda a nossa evolução econômica se pro cessou improvisadamente, amoldando-se às contingências do momento. Um ligei ro olluu* ao nosso passado faz ressaltar a fraqueza tia estrutura econômica bra sileira. E' toda ela dividida em ciclos; o do pau brasil, o da c-ana-de-açúcar, o da mineração, o do pastoreio, o da borracha, o do café. O que resta de toclos êles se ampara em medidas pro tetoras governamentais.
Para a construção do verdadeiro Iravejamento do nosso mundo econômico, cabe às associações de c'asse, tanto dos patrões como dos empregados, grande parte da enorme tarefa dc ordenar o esforço gigantesco desen<'olvido por nós, no sentido dc criar um parque produ tor capaz de abastecer e enriquecer a nação. Muito têm elas feito nesse setor, e se os seus esforços não produziram maiores resultados foi por não terem en contrado apoio suficiente junto ao Go verno. Elas, por si só, não possuem todos os elementos indispensáveis a wm auxíMo perfeito às classes produtoras. Por exemplo, não r. >nseguiram ainda for mar um departamento técnico e eco nômico aparelhado para fornecer expli cações, dados e conhecimentos relativos aos problemas que dia a dia se apre sentam aos produtores.
Ora, a criação de um departamento de estudos técnicos e economicos, nos moldes do Instituto Nacional de Tecno logia, com perfeita autonomia e funcio nando em conjugação com as associa ções de classe, constituiria uma medida governamental de alto alcance para as classes produtoras.
Do exposto podemos tirar as seguin tes conclusões:
1) — A intervenção do Estado na vi da econômica é:

a) — supletiva, cabendo, por tanto, intervir quando vi se assegurar os bens ge rais e permanentes da co letividade, promover a melhoria da vida social, e realizar ^àquelas obras que escapam à iniciativa individual e que, no en tanto, são indispensáveis ao progresso eçonómico da nação;
b) — orientadora, isto é, for necendo todos os elemen tos, informações e conhe cimentos, quer de ordem técnica como econômica. Apenas orientar e não di rigir, mostrando as gran des linhas que devem guiar a marcha da econo mia nacional;
o) — auxiliadora, facilitando créditos, concedendo prê mios e isenções de direi tos alfandegários, for' necendo subvenções e to das medidas que redun dem em beneficio das classes produtoras e con sumidoras.
2) — A intervenção do Estado, quer no setor econômico, quer no setor so cial, deve sempre ser feita de acordo com as associações de classe, devendo
também consultar estas, quando se tra te de elaborar leis com fins econômi cos ou sociais. Por dois motivos:
— Primeiro, porque às associações de classe são encaminhados todos os pareceres, consultas, reclamações, dificulda des e conflitos de ordem administrati va, legal, técnica, trabalhista. Portan to são os órgãos que estão continuamen te em contacto com os problemas, di ficuldades e interêsses dos particulares em todos .os setores, seja da indústria, do comércio ou da agricultura; quer se trate de produção ou de distribuição, provenha da classe operária ou da classe patronal. São as antenas que recebem todas as \'ibrações das atividades eco nômicas e, portanto, as fontes mais au torizadas e capazes não só para a exe cução como para esclarecimentos.
— Segundo, porque funcionam como freios às resoluções governamentais que, de maneira direta ou indireta, acarretanx prejuízo às classes econômicas, ou consumidoras.
3) — Incumbe ao Estado organizar departamentos de pesquisas e estudos econômicos, funcionando em conjugação com as associações de classe, a fim de não só fornecer tôdas as informações técnicas, financeiras e econômicas aos industriais, agricultores e comerciantes, bem como apontar as grandes linhas que devem orientar a economia brasi leira.

O recente conflito, mais que o primei ro, viria a ter uma repercussão decisiva na transformação da estrutura econômica do país. A contração da importação, resultante da situação anormal que o mundo atravessava, leve os seus efeitos agravados pelo fato de não nos haver mos, ainda, refeito completamente da crise de 1929. Para observar-se isto basta considerar que, tomando-se por ba se a década 1935-45, o Brasil importou 0,45% de animais vivos, 17,56% de gê neros alimentícios, 20,57% de matériasprimas e 51,22% do total das importa ções, de manufaturas. O predomínio destas é explicado pela necessidade cres cente de máquinas, aparelhos, ferramen tas e utensílios diversos, utilizados, quer na indústria, quer na agricultura. Tais máquinas, aparelhos e ferramentas re presentam, em média, 17,39% da im portação total do país. Logo após co loca-se a importação de combustíveis e lubrificantes, que representa nada me nos de 12,9% do total e assim se dis tribuiu: 4,5% de carvão de pedra, bri quetes e coque; 3,5% de gasolina, 2,3% de óleos combustíveis, 1,4% de óleos lu brificantes, 0,9% de querosene e 0,2% de petróleo. Os combustíveis e lubri ficantes, desta forma, constituem qua se metade das matérias-primas importa das. As demais totalizam 17,9% da im portação média, destacando-se a impor tação do ferro, aço e cimento, necessá rios, todos, à indústria. No tocante às manufaturas, logo após as máquinas a que já fizemos menção, colocam-se o ferro e o aço manufaturados, represen tando, em média, 7,9% de tôda a impor
tação; os produtos químicos, farmacêu ticos e semelhantes, 5,5%; os automóveis e acessórios, 4,5%; outros veículos, 3,4%.
As demais manufaturas apresentam por centagens que variam entre 2,2% para o papel c 0,1% para as demais manufatu ras, desprezíveis, portanto, como impor tância econômica.
A análise destes dados está a nos in dicar os mais importantes problemas da industrialização brasileira. Em primei ro lugar avulta a siderurgia que, pelo seu desenvolvimento, nos permitirá re duzir, consideràvelmente, a importação diretamente ligada ao consumo de fer ro e aço. Basta considerar que 28,16% da importação brasileira são representa dos por ferro e aço, quer como matériasprimas, quer como manufaturas ou tam bém sob a forma de máquinas, apare lhos e ferramentas. O segundo proble ma, igualmente de magna importância, é representado pela escassez de fontes de energia, de onde, pois, a formidável im portação de combustíveis que, como ve rificamos, alcança 12,91% do total. ,Ura terceiro problema, ainda de grande im portância, estreitamente ligado à solu ção que se der aos 2 primeiros, é o do transporte. Verificamos realmente que, em automóveis, outros veículos e aces sórios, importamos, no último decênio, 8,47%; note-se, ainda, que tivemos de considerar, em nossa análise, os anos de guerra, que muito perturbaram o ritmo normal de nossa importação.
Transformada a situação econômica da agricultura, abalada a posição do café, restringida a importação, o consenso so cial brasileiro passou a aceitar a idéia da

necessidade de uma industrialização maior. Daí as tentativas de solução de nossos problemas mais sérios, entre os quais se destacam o da siderurgia, o da energia elétrica, o dos transportes, o do petróleo e o do cimento.
O que se pode notar de mais importan te na evolução industrial do Brasil é que, nestes últimos anos, se tem cuida do com maior dcsvôlo da constituição de uma indústria pesada e que, embora não seja ela ainda bastante significativa, po demos já afirmar que caminhamos para uma industrialização que so assenta em bases sólidas. Comparando-se o cen so industrial de 1940 com o anterior, dc 1920, verifica-se ter havido uma grande transformação, e.xtremamente favorável ao desenvolvimento da grande indústria no Brasil. Tínhamos, em 1940, 39.937 emprêsas, totalizando 49.418 estabeleci mentos que consumiam, segundo estatís ticas existentes, uma potência do 1.205.594 H.P. Dado o reduzido núme ro destes estabelecimentos por empresa não se pode, pois, falar em concentração industrial no Brasil, o que não é de ad mirar, visto ser ainda fraca a própria in dustrialização. Tais emprêsas realiza ram, naquela época, 7.273.025:000$000, sendo que 39,7% do mesmo estava em mãos de estrangeiros. O capital aplica do, entretanto, elevava-se a Cr$ 18.033.237.000,00 ou seja, um capital médio, por emprêsa, de Cr$ 451.500,00.
Considerando-se, todavia, o capital aplicado mais significativo que o realiza'' do, verifica-se que 32,2% do capital en contravam-se investidos na produção e distribuição de eletricidade, gás e frio, bem como no abastecimento de água e esgotos. As indústrias de produtos ali mentícios, vindas em segundo lugar, acu" savam uma aplicação de capital de 19%, enquanto as indústrias têxteis quase se
eqüivaliam às anteriores, pois absoniam 17,3% de todo o capital aplicado. A me talurgia, que começava a crescer mercê da restrição da importação, distribuíase por 1.299 emprêsas, representando um capital aplicado de Cr$ 871.926.000,00 equivalente a 4,8% do total aplicado na atividade industrial. A indústria quími ca e farmacêutica, em franco desenvol vimento, é ainda muito pequena, pois que representa apenas Cr$ : 752.045.000,00, distribuídos por 1.243 emprêsas, correspondendo a 4,2% do ca pital total empregado na indústria. A transformação dos minérios não metáli cos passou a representar 2,6% do capi tal, equiva'endo, em importância, à in dústria de madeira e produtos afins, muito mais antiga e com situação já fir mada.
Tomando-se por base o capital médio, por emprêsa, verifica-se que as ativida des que se destacam no parque indus trial brasileiro são as seguintes: a pro dução e distribuição de eletricidade, gás e frio e o abastecimento de água e esgotos, representando um capital mé dio, por emprêsa, de Cr$ 4.744.900,00; a da borracha, com Cr$ 2.769.300,00; a de óleos, graxa e gorduras vegetais, com Cr$ 2.117.200,00; as indústrias têxteis, com Cr$ 1.930.400,00 e as de papel e papelão com Cr$ 1.237.300,00. E' pre ciso notar-se que, no caso-da borracha, há apenas 52 emprêsas no território bra sileiro que reúnem, no eutanto, quase Cr$ 145.000.000,00.
Considerando-se, porém, o valor da produção, percebe-se que, na produção brasileira, a indústria de produtos ali mentícios continua na liderança, com Cr$ 4.911.842.000,00, vindo em segundo lugar a têxtil, com Cr$ 3.618.574.000,00, e, em seguida, a química e farmacêuti ca, com Cr§ 1.170.337.000,00. Cumpre
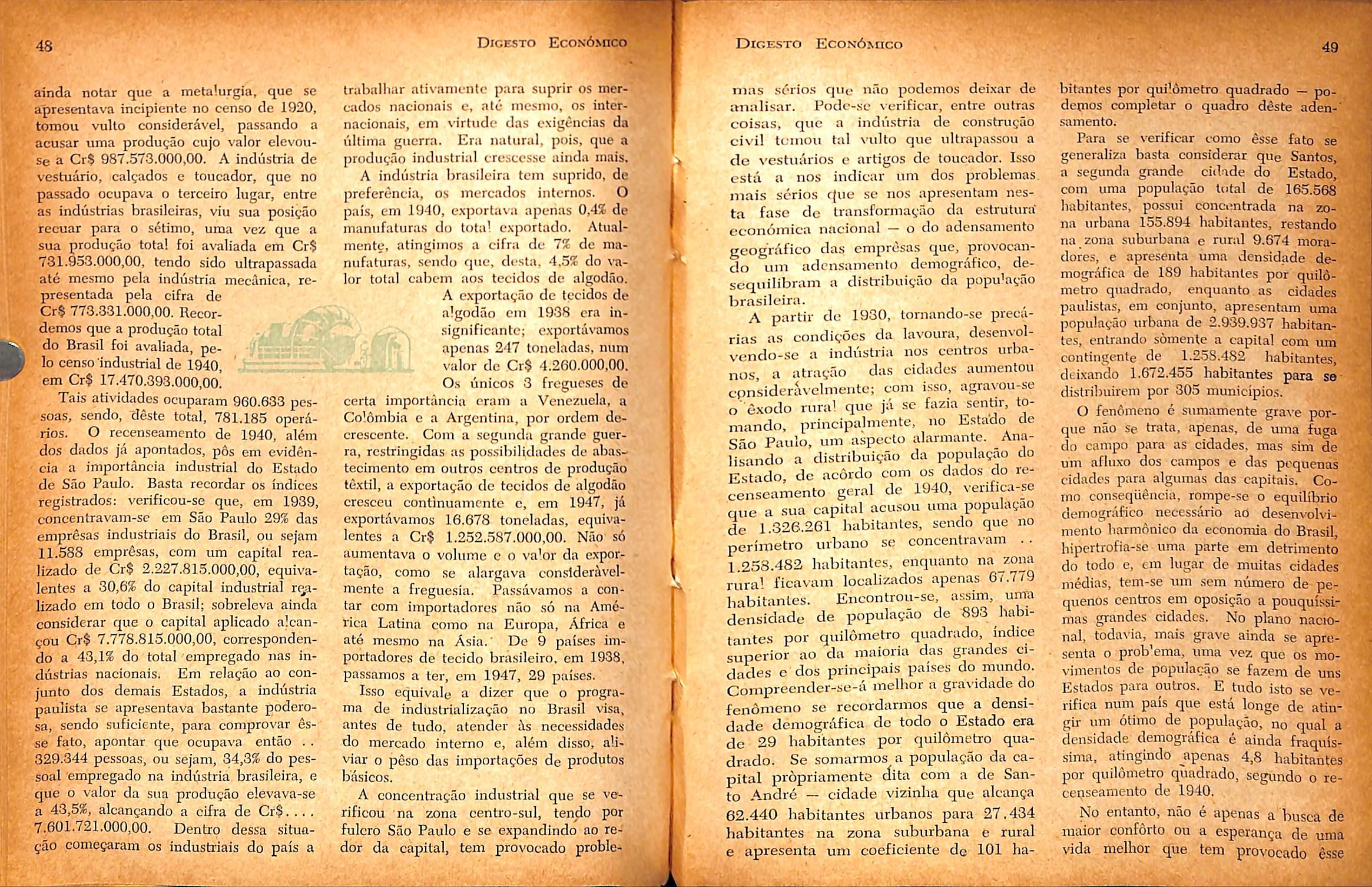
ainda notar que a metalurgia, que se apresentava incipiente no censo de 1920, tomou vulto considerável, passando a acusar uma produção cujo valor elevouse a Cr$ 987.573.000,00. A indústria de vestuário, calçados e toucador, que no passado ocupava o terceiro lugar, entre as indústrias brasileiras, viu sua posição recuar para o sétimo, uma vez que a sua produção total foi avaliada em Cr$ 731.953.000,00, tendo sido ultrapassada ate mesmo pela indú.s'tria mecânica, re presentada pela cifra de Cr$ 773.331.000,00. Recordemos que a produção total do Brasil foi avaliada, pe lo censo industrial de 1940, em Cr§ 17.470.393.000,oo!
Tais atiwdades ocuparam 960.633 pes soas, sendo, deste total, 781.185 operá rios. O rccenseamcnto de 1940, além dos dados já apontados, pôs em evidên cia a importância industrial do Estado de São Paulo. Basta recordar os índices registrados: verificou-se que, em 1939, concentravam-se em São Paulo 29!? das empresas industriais do Brasil, ou sejam 11.588 empresas, com um capital realizado de Cr$ 2.227.815.000,00, equiva lentes a 30,6% do capital industrial r^lizado em todo o Brasil; sobreleva ainda considerar que o capital aplicado alcan çou Çr$ 7.778.815.000,00, corresponden do a 43,1% do total empregado nas in dústrias nacionais. Em relação ao con junto dos demais Estados, a indvistria paulista se apresentava bastante podero sa, sendo suficiente, para comprovar êsse fato, apontar que ocupava então .. 329.344 pessoas, ou sejam, 34,3% do pes soal empregado na indústria brasileira, e que o valor da sua produção elevava-se a 43,5%, alcançando a cifra de CrS.... 7.601.721.000,00. Dentro dessa situa ção começaram os industriais do país a
trabalhar alivanicnle para suprir os mer cados nacionais e, até mesmo, os inter nacionais, em virtude das exigências da última guerra. Era natural, pois, que a produção industrial cre.sccsse ainda mais.
A indústria brasileira tem suprido, de preferência, os mercados internos. O país, em 1940, exportava apenas 0,4% de manufaturas do total exportado. Atual mente, atingimos a cifra de 7% de ma nufaturas, sendo que, desta. 4,5% do va lor total cabem ao.s tecidos de algodão. A exportação de tecidos de algodão cm 1938 era in significante; c.\porlá\'amos apenas 247 toneladas, num valor dc .Cr$ 4.260.000,00. Os únicos 3 fregueses de certa importância eram a Venezuela, a Colômbia e a Argentina, por ordem de crescente. Com a segunda grande guer ra, restringidas as possilnlídade.s de abas tecimento cm outros centros de produção têxtil, a exportação de tecidos de algodão cresceu continuamente c, cm 1947, já exportávamos 16.678 toneladas, equiva lentes a Cr$ 1.252.587.000,00. Não só aumentava o volume e o va'or da expor tação, como se alargava consideravel mente a freguesia. Passávamos a con tar com importadores não .só na Amélica Latina como na Europa, África e até mesmo na Ásia.' De 9 países im portadores de tecido brasileiro, em 1938, passamos a ter, em 1947, 29 países.
Is.so eqüivale a dizer que o progra ma de industrialização no Brasil visa, antes de tudo, atender ás necessidades do mercado interno e, além disso, ali viar o peso das importações de produtos básicos.
A concentração industrial que se ve^rificcu na zona centro-sul, tendo por fulcro São Paulo e se expandindo ao re dor da capital, tem provocado proble-
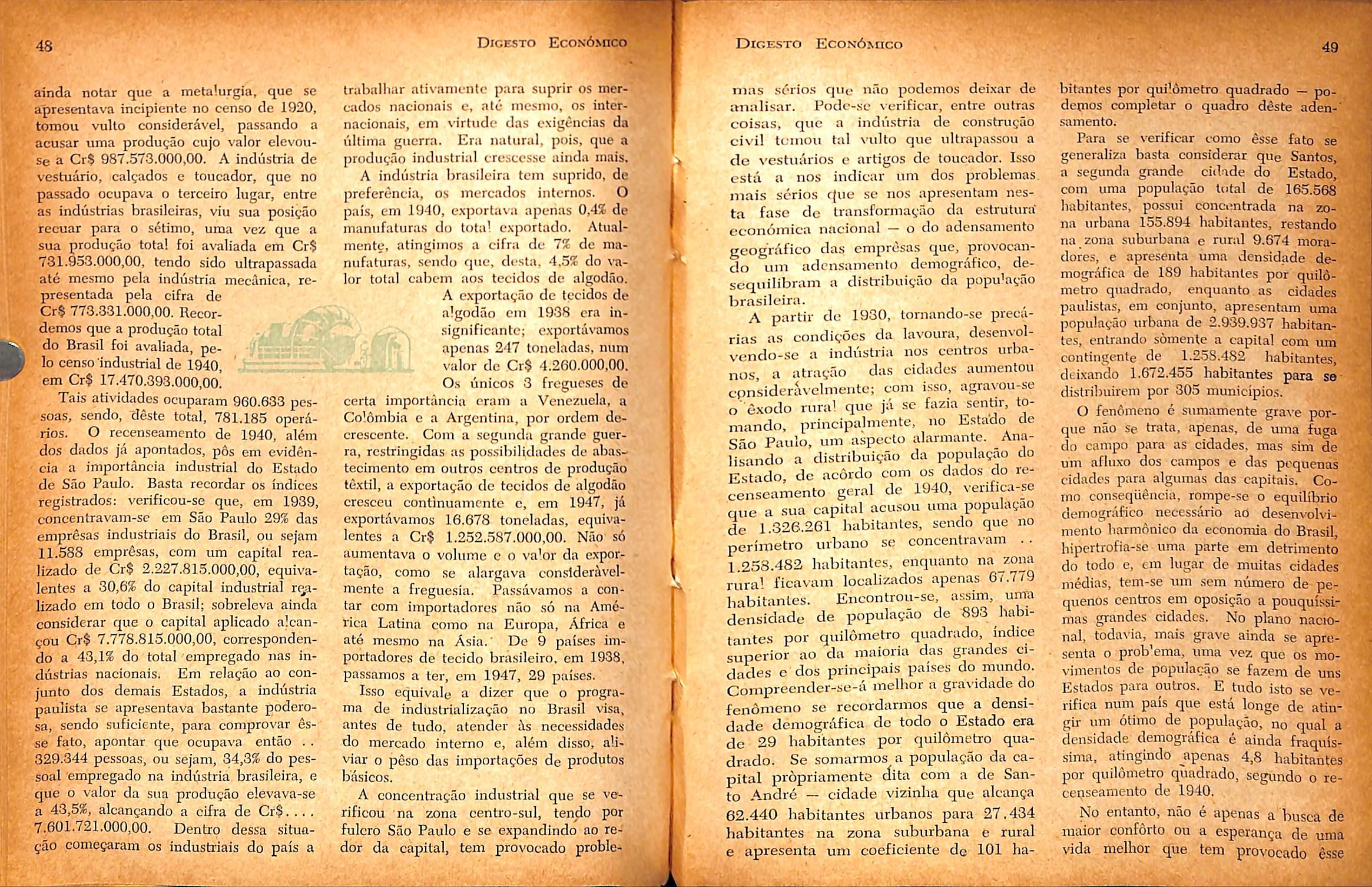
mas «sérios que não podemos deixar de analisar. Pode-se \erificar, entre outras coisas, que a indústria de construção civil tiMiiou tal vulto que ultrapassou a de vestuários o artigos de toucador. Isso está a nos indicar um dos problemas mais sérios cjiie se nos apresentam nes ta fase dc transformação da estrutura" econômica nacional — o do adensamento geográfico das empresas que, provocan do um adensamento demográfico, de sequilibram a distribuição da população brasileira.
A partir de 1930, tornando-se precá rias as condições da lavoura, desenvol vendo-se a indústria nos centros urba nos, a atração das cidades aumentou cpnsideriuelmentc; com isso, agravou-se o'êxodo rural que já sc fazia ^sentir, to mando, principalmente, no Estado cie São Paulo, um aspecto alarmante. Ana lisando a distribuição da população do Estado dc acordo com os dados do recenseamento geral de 1940, xeiifica-se que a sua capital acu.sou uma população de 1.326.261 habitantes, sendo que no perímetro urbano se concentra\am ..
1.258.482 habitantes, enquanto na zona rural ficavam localizados apenas 67.779 habitantes. Encontrou-se, assim, uma densidade de população de 893 liabitantes por quilômetro quadrado, índice superior ao da maioria das grandes ci dades e dos principais países do mundo. Comprecnder-se-á melhor a gravidade do fenômeno se recordarmos que a densi dade demográfica de todo o Estado era de 29 habitantes por quilômetro qua drado. Se somarmos a população da ca pital propriamente cíita com a de San to André — cidade vizinha que alcança 62.440 habitantes urbanos para 27.434 habitantes na zona suburbana e rural e apresenta um coeficiente de 101 ha
bitantes por quilômetro quadrado — po demos completar o quadro deste aden-' samento.
Para se verificar como êsse fato se generaliza basta considerar que Santos, a segunda grande cidade do Estado, com uma população U»tal de 165.568 habitantes, possui concentrada na zo na urbana 155.894 habitantes, restando na zona suburbana e rural 9.674 mora dores, e apresenta uma densidade de mográfica de 189 habitantes por quilô metro quadrado, enquanto as cidades paulistas, em conjunto, apresentam uma população urbana de 2.939.937 habitan tes, entrando somente a capital com um contingente de 1.25S.482 habitantes, deixando 1.672.455 habitantes para S6" distribuírem por 305 municípios.
O fenômeno é sumamente grave por que não se trata, apenas, de uma fuga cio campo para as cidades, mas sim de um aflu.xo dos campos e das pequenas cidades para algumas das capitais. Co rno conseqüência, rompe-se o equilíbrio demográfico necessário ao desenvolvi mento harmônico da economia do Brasil, hipertrofia-se uma parte em detrimento do todo e, em lugar de muitas cidades médias, tem-se nm sem número de pe quenos centros em oposição a pouquíssi mas grandes cidades. No plano nacio nal, todavia, mais grave ainda se apre senta o prob'ema, uma vez que os mo vimentos de população se fazem de uns
Estados para outros. E tudo isto se ve rifica num país que está longe de atin gir um ótimo de população, no qual a densidade demográfica é ainda fraquíssima, atingindo jipenas 4,8 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o receiiseamento de 1940.
No entanto, não é apenas a busca dê maior conforto ou a esperança de uma vida melhor que tem provocado esse

desequilíbrio acentuado da populaçflo. O que tem contribuído, mais que tudo, para a ocorrôncia desse fenômeno, é o desenvolvimento industrial brasileiro. E' íito sabido que a indústria atrai braços ® que um dos seus característicos é o grande número de trabalhadores, con centrados em pequena área, em oposição agricultura, cujas áreas são imensas e número de indivíduos é restrito, Embora sejam múltiplos os fatôres deter minantes dessa concentração de homens e atividades, um dêles, cumpre acentuar, vem sendo resultante da luta para obtennecessária ao trabalho in-
Encontramos aqui, num aspecto curio so e_ característico da industrialização brasileira - a localização e desenvolvi mento da indústria de eletricidade. O próprio movimento das importações está a nos mostrar que um pro blema fundamental para a indus trialização brasileira é o da ener gia. E' sabido que somos um po vo pobre em carvão e que, por isso, vemo-nos obrigados a realizar fortes importações desse combus tível. Mesmo depois da eclosão da se gunda grande guerra, tendo aumentado as dificuldades de obtenção de carvão estrangeiro e, por isso, tendo sido elabo rado um programa de intensificação das explorações carboníferas brasileiras, as 39 empresas deste ramo de produção, que no país se encontram localizadas, quase tôdas, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, produziram, em 1945, apenas 2.072.881 toneladas, no va lor total de 220.598:OOOSOOD. Nesta mesma época importávamos 698.278-to neladas de carvão de pedra e 17.517 to neladas de coque, num valor total de 266.138:000$000. Note-se, além disso,
que a importação de carvão de 1945 não foi típica, porque estávamos no fim da guerra. Já no ano seguinte a importação de caivão de pedra e coque dobrava cm volume. Êsse fenômeno é tanto mais grave quanto o carvão repre senta, como fonte de energia, aproxima damente 50% da potência necessária à produção nacional brasileira.
E' essa pobreza de combustível que faz com que se venha recorrendo náo só à lenha como uma das fontes de ener gia, comum no Brasil, como também se tenha procurado o melhor aproveitamen to da energia hidráulica como geradora do eletricidade, que, hoje em dia, se vem tomando indispensável à atividade econômica. A êsse respeito, o Brasil se apresenta particularmente favorecido. A Divisão de Águas do Departamento da Produção Mineral do Ministério da Agri cultura, em recente estudo, ava liou a potência hidráulica do Bra sil em 19.519.300 H.P., eqüiva lendo mais ou menos a 14.366.000 Kw. Essa estimativa está aquém da realidade, pois as fontes de energia não foram ob jeto de estudo direto, avaliando-se o pO' tencial pelo desnível acusado nas cartas geográficas existentes.
As nossas 5 maiores quedas dágua, de acôrdo com o referido estudo, em ordem de importância, são: o Salto do Guaíra, ou Gachoeira das 7 Quedas, no rio Parana. Estado do Paraná, com uma po tência de 1.500.000 H.P.; a Gachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, entre a Bahia e Alagoas, com 560.000 H- P,; o Salto de Iguaçu, no rio do mes mo nome. Estado do Paraná, na zona limítrofe entre o Brasil e a Argentina, com aproximadamente 340.000 H. P.; o Salto de Urubu-Pungá, no rio Paraná, divisa entre São Paulo e Mato Grosso,

com cerca cie 250.000 H. P.; e a Ga choeira do Marimbondo, no Rio Gran de, entre São Paulo e Minas Gerais, com cêrca de 150.000 H. P.. Tôdas essas fontes naturais, porém, não são ainda ex ploradas.
Piá, atualmente, um projeto de utili zação da Cachoeira clc Paulo Afonso co mo fonte clc energia, sendo que os tra balhos de retificação do rio e de aprovei tamento hidrelétrico já estão em anda mento. Os 2 maiores aproveitamentos de quedas dágua naturais no Brasil são representados pc'a usina de Fontes, no Ribeirão das Lagos, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade cia Companhia Carri.s, Luz e Força do Rio de Janeiro, com 140.000 Kw instalados, e pela usi na Itupararanga, no Rio Sorocaba, Esta do de São Paulo, de propriedade da The São Paulo Tramway Light and Power Co. Ltd. com 50.400 Kw instalados. Ocupa, no entanto, o primeiro lugar em aproveitamento hidrelétrico, no país, o realizado pela última companhia, a que acima nos referimos, na Serra do Gubatão. Estado de São Paulo, com cêrca de 150.000 Kw instalados. Gonsiderandose a sua capacidade atual, coloca-se ho je como a sétima em potência hidrelé trica, no mundo; se, no entanto, consi derarmos sua capacidade final, em com paração com a das 6 empresas,que a antecedem, destinar-se-á a ser a tercei ra no mundo, sendo apenas ultrapassada pelo Grand Coules e pelo Boulder, no Arizona, E. V. A.
Conta o Brasil, presentemente, com 911 usinas geradoras Iridrelétricas e 874 termo-elétricas, num total de 1.813.000 usinas geradoras fornecedoras, incluindose as usinas mistas; excluem-se, porém, as hidrelétricas privativas, que alcançam o número de 69. Tais usinas abastecem 2.846 localidades, Devemos ainda con-
siderar a instalação de uma nova esta ção hidrelétrica recentemente feita em Avanhandava, no Estado de São Paulo, pelas Empresas Elétricas Brasileiras, com 2 geradores de 10.000 Kw cada um. Além disso, cogita-se da ampliação e melhoramento da estação de Cubatão, em São Paulo, o que permitirá um au mento da energia fomecida por esta es tação, de cêrca de 55.000 Kw. Todos esses fatos estão a nos mostrar-que não é de admirar a concentração industrial ao redor da capital do Estado de São Paulo, imia vez que a maior fonte de energia do Brasil se encontra no Cuba tão, que lhe fica próximo e que a abas tece.
Um fenômeno que de\'e merecer a' nossa atenção é o da estreita ligação en tre o desenvolvimento da energia elétri ca no Brasil e o da indústria do cimento, muito embora isto, no momento, nos possa parecer impossível. Passemos, por isso, em revista, a liistória do cimento no país. As primeiras notícias da exis tência de uma fábrica de cimento, orga nizada na Paraíba do Norte, datam de 1892; a mesma, porém, não obteve êxi to. Cinco anos mais tarde, em 1897, fundou-Se uma outra fábrica em Sto. Antônio, na Estrada de Ferro Sorocabana, que pôde produzir 25.000 toneladas por ano, utilizando fomos verticais, sis tema Dietz, e usando o processo de via seca. Êsse estabelecimento fabril teve também pouca duração, vendo seus tra balhos paralisados completamente em 1910. Sòmente com a eclosão da pri meira grande guerra, escasseando com pletamente o cimento de origem estran geira, reabriu-se a antiga fábrica Rodovalho, em São Paulo; o govérno do Es tado do Espírito Santo, 4 anos antes, na Cachoeira de Itapemirim, iniciara a montagem de uma outra fábrica de ci-
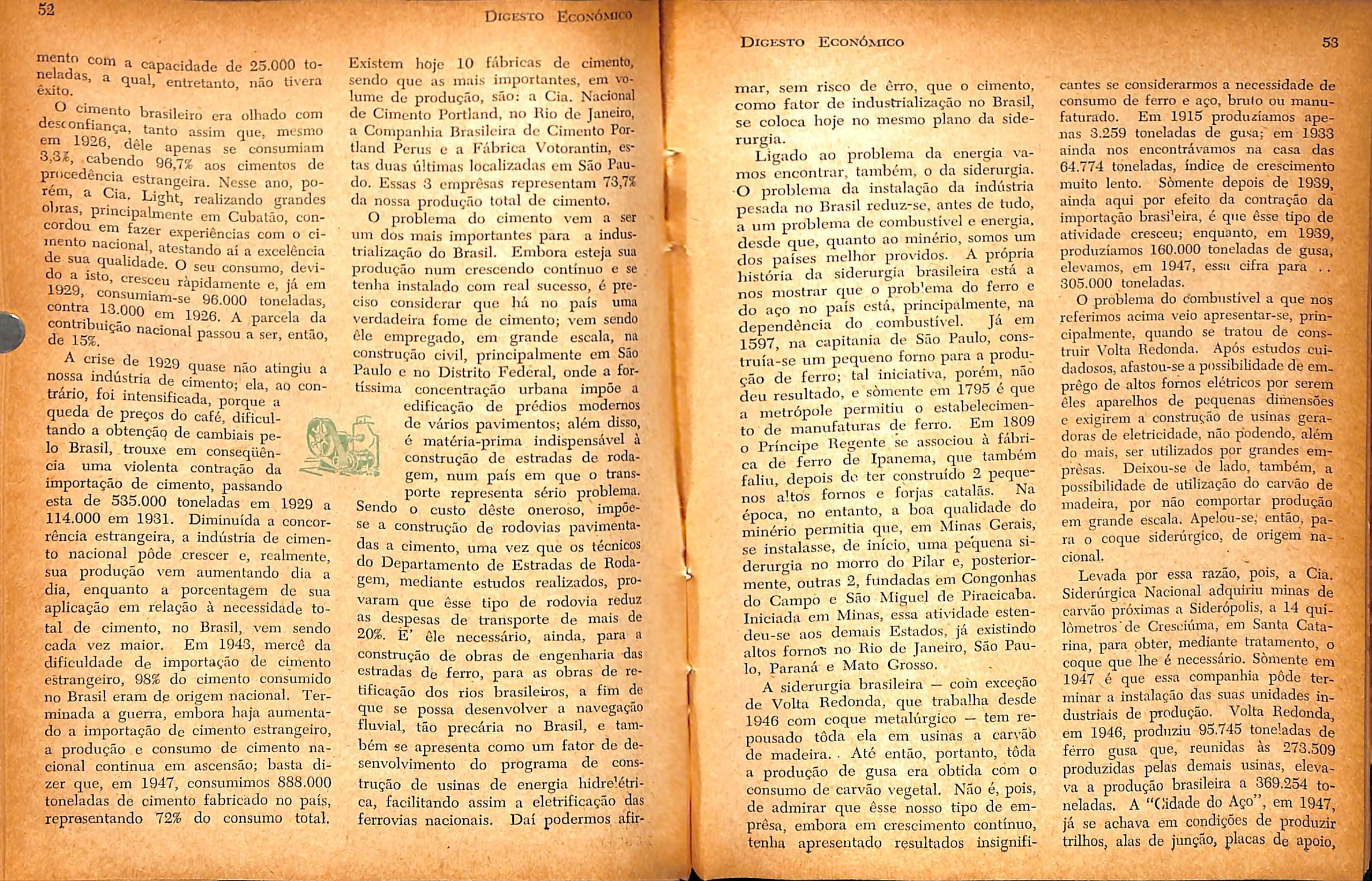
mento com a capacidade de 25.000 tone a as, a qual, entretanto, não tivera exito. '
O cimento brasileiro era olhado com tanto assim que, mesmo apenas se consumiam ' ' ^Dendo 98,7% aos cimentos de proce encia estrangeira. Nesse ano, po rem, a Cia. Light, realizando grandes ohras, pnncipaUncnte em Cubatáo, confazer e.xperiências com o ci- J n o nacional, atestando aí a excelência de sua qualidade. O seu consumo, devi do a isto, cresceu rapidamente e, jã em cSa toneladas, de 15% "acionai passou a ser, então, A crise de 1929 quase não atingiu a nossa industria de cimento; ela. ao con trário, foi intensificad a, porque a queda de preços do café, dificul tando a obtenção de cambiais pe lo Brasil, trouxe em conseqüên cia uma violenta contração da importação de cimento, passando esta de 535.000 toneladas em 1929 a 114.000 em 1931. Diminuída a concor rência estrangeira, a indústria de cimen to nacional pôde .crescer e, realmente, sua produção vem aumentando dia a dia, enquanto a porcentagem de sua aplicação em relação à necessidade to tal de cimento, no Brasil, vem sendo cada vez maior. Em 1943, mercê da dificuldade de importação de cimento estrangeiro, 98% do cimenta consumido no Brasil eram de origem nacional. Ter minada a guerra, embora haja aumenta do a importação de cimento estrangeiro, a produção e consumo de cimento na cional continua em ascensão; basta di zer que, em 1947, consumimos 888.000 toneladas de cimento fabricado no país, representando 72% do consumo total.
Existem hoje 10 fábricas de cimento, sendo que as mai.s importantes, em vo lume de produção, são: a Cia. Nacional de Cimento Porlland, no Pio de Janeiro, a Conipanliiíi Brasileira de Cimento Portland Perus c a Fábrica Votoranlin, es tas duas últimas localizada.s em São Paudo. Essas 3 empresas representam 73,7% da nossa produção total de cimento. O problema do cimento vem a ser um dos mais importantes para a industriali2:ação do Brasil. Embora esteja sua produção num crescendo contínuo e se tenha instalado com real sucesso, é pre ciso considerar que há no país uma verdadeira fome do cimento; vem sendo ele empregado, cm grande escala, na construção civil, principalmente ein São Paulo e no Distrito Federal, onde a for tíssima concentração urbana impõe a edificação de prédios modernos do vários pavimentes; além disso, c matéria-prima indispensável à construção de estradas de roda gem, num país em que o trans porte representa sério problema. Sendo o custo deste oneroso, impõese a construção dc rodovias pavimenta das a cimento, uma vez que os técnicos do Departamento de Estradas de Roda gem, mediante estudos realizados, pro varam que esse tipo de rodovia reduz as despesas de transporte de mais de 20%. E' êle necessário, ainda, para a construção de obras de engenharia das estradas de ferro, para as obras de re tificação dos rios brasileiros, a fim de que SC possa desenvolver a navegação fluvial, tão precária no Brasil, e tam bém se apresenta como um fator de de senvolvimento do programa de cons trução de usinas de energia hidrelétri ca, facilitando assim a eletrificação das ferrovias nacionais. Daí podermos afir-
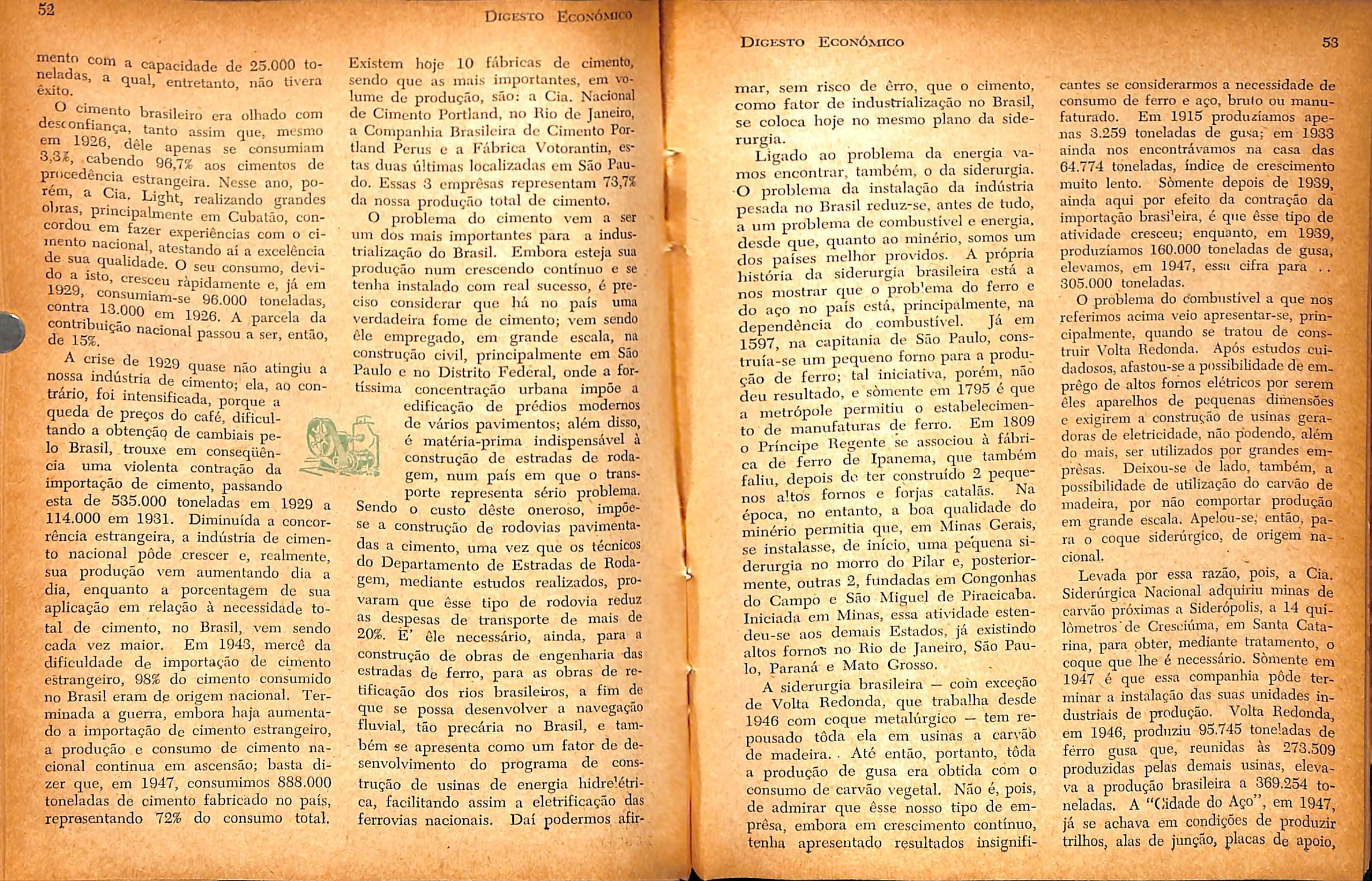
mar, sem risco de òrro, que o cimento, como fator dc industrialização no Brasil, se coloca hoje no mesmo plano da side rurgia.
Ligado ao problema da energia va mos enconlrar, também, o da siderurgia. -O problema cia instalação da indústria pesada no Bra.sil reduz-se, antes do tudo, a um problema dc combustível e energia, desde cpie, quanto ao minério, somos um dos países melhor pioxidos. A própria história da siderurgia brasileira está a nos mostrar que o prob'cma do ferro e do aço no país está, principidmente, na dependência cio combustí\el. Já em 1597, na capitania de São Paulo, cons truía-se um pequeno forno para a produ ção de ferro; tal iniciativa, porém, nao deu resultado, e sòmentc cm 1795 e que a metrópole permitiu o cstabdeciraento de manufaturas de ferro. Em 1809 o Príncipe Regente se associou a fabri ca de ferro de Ipanema, que também faliu, depois do ter construído 2 peque nos altos fomos e forjas catalãs. Na época, no entanto, a boa qualidade do minério permitia que, em Minas Gerais, se instalasse, de início, uma pequena si derurgia no morro do Pilar e, posterior mente, outras 2, fundadas em Congonhas do Campo e São Miguel de Piracicaba. Iniciada em Minas, essa atividade esten deu-se aos demais Estados, já existindo altos forno^j no Rio de Janeiro, São Pau lo, Paraná e Mato Grosso.
A siderurgia brasileira — coin exceção de Volta Redonda, que trabalha desde 1946 com coque metalúrgico — tem re pousado toda ela em usinas a carvãb de madeira. • Até então, portanto, toda a produção de gusa era obtida com o consumo de carvão vegetal. Não é, pois, de admirar que esse nosso tipo de em presa, embora em crescimento contínuo, tenha apresentado resultados insignifi-
cantes se considerarmos a necessidade de consumo de ferro e aço, brufo ou manu faturado. Em 1915 produííamos ape nas 3.259 toneladas de gusa;" em 1933 ainda nos encontrávamos na casa das 64.774 toneladas, índice de crescimento muito lento. Sòmente depois de 1939, ainda aqui por efeito da contração da importação brasi'eira, é que esse tipo de atividade cresceu; enquanto, em 1939, produzíamos 160.000 toneladas de gusa, elevamos, em 1947, essa cifra para 305.000 toneladas.
O problema do combustível a que nos referimos acima veio apresentar-se, prin cipalmente, quando se tratou de cons truir Volta Redonda. Após estudos cui dadosos, afastou-se a possibilidade de em prego de altos fomos elétricos por serem êles aparelhos de pequenas dimensões o exigirem a constmção de usinas gera doras de eletricidade, não podendo, além do mais, ser utilizados por grandes em presas. Dei-xou-se de lado, também, a possibilidade de utilização do carvão de madeira, por não comportar produção em grande escala. Apelou-se; então, pa ra o coque siderúrgico, de origem na cional. ■ ^
Levada por essa razão, pois, a Cia. Siderúrgica Nacional adquiriu minas de carvão próximas a Siderópoiis, a 14 qui lômetros de Creseiúma, em Santa Cata rina, para obter, mediante tratamento, o coque que lhe é necessário. Sòmente em 1947 é que essa companhia pôde ter minar a instalação das suas unidades in dustriais de produção. Volta Redonda, em 1946, produziu 95.745 toneladas de férro gusa que, reunidas às 273.509 produzidas pelas demais usinas, eleva va a produção brasileira a 369.254 to neladas. A "Cidade do Aço", en em 1947, já se achava em condições de produzir trilhos, alas de junção, placas de apoio,
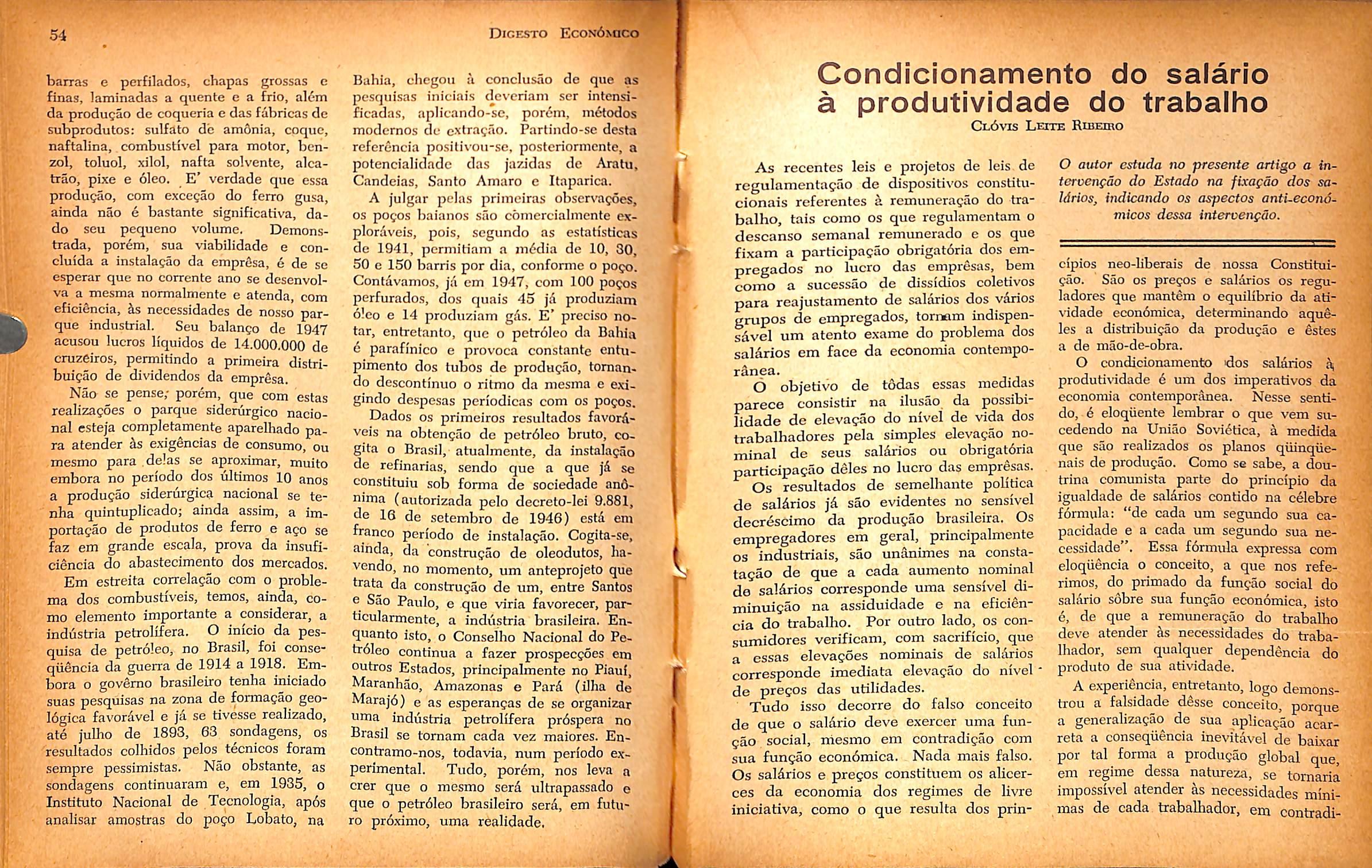
barras e perfilados, chapas grossas c finas, laminadas a quente e a frio, aldm da produção de coqueria e das fábricas de subprodutos: sulfato dc amônía, coque, naftalina, combustível para motor, ben zei, toluol, xilol, nafta solvente, alcatrão, pixe e óleo. E' verdade que essa produção, com exceção do ferro gusa, ainda não é bastante significativa, da do seu pequeno volume. Demons trada, porém, sua viabilidade e con cluída a instalação da emprôsa, 6 de se esperar que no corrente ano se desenvol va a mesma normalmente e atenda, com eficiência, às necessidades de nosso par que industrial. Seu balanço de 1947 acusou lucros líquidos de 14.000.000 de cruzeiros, permitindo a primeira distri buição de dividendos da empresa.
Não se pense; porém, que com estas realizações o parque siderúrgico nacio nal esteja completamente aparelhado pa ra atender às exigências de consumo, ou mesmo para delas se aproximar, muito embora no período dos últimos 10 anos a produção siderúrgica nacional se te nha quintuplicado; ainda assim, a im portação de produtos de ferro e aço se faz em grande escala, prova da insufi ciência do abastecimento dos mercados.
Em estreita correlação com o proble ma dos combustíveis, temos, ainda, co mo elemento importante a considerar, a indústria petrolífera. O inicio da pes quisa de petróleo, no Brasil, foi conse qüência da guerra de 1914 a 1918. Em bora o govêmo brasileiro tenha iniciado suas pesquisas na zona de formação geo lógica favorável e já se tivesse realizado, até julho de 1893, 63 sondagens, cs resultados colhidos pelos técnicos foram sempre pessimistas. Não obstante, as sondagens continuaram e, em 1935, o Instituto Nacional de Tecnologia, após analisar amostras do po^ Lobato, na
Bahia, chegou à conclusão de que as pesquisas iniciais deveriam ser intensi ficadas, aplícando-se, porém, métodos modernos de extração. Partindo-se desta referência positi\ou-se, posteriormente, a potencialidade das jazidas de Aratu, Candeias, Santo Amaro e Itaparica.
A julgar pelas primeiras observações, os poços baianos são còmercialniente exploráveis, pois, segundo as estatísticas de 1941, permitiam a média de 10, 30, 50 e 150 barris por dia, conforme o poço. Contávamos, já em 1947, com 100 poços perfurados, dos quais 45 já produziam óleo e 14 produziam gás. E' preciso no tar, entretanto, que o petróleo da Bahia é parafínico e provoca constante entupimento dos tubos de produção, toman do descontínuo o ritmo da mesma e exi gindo despesas periódicas com os poços.
Dados os primeiros resultados favorá veis na obtenção de petróleo bruto, co gita o Brasil, atualmente, da instalação de refinarias, sendo que a que já se constituiu sob forma de sociedade anô nima (autorizada pelo decreto-lei 9.881, de 16 de setembro de 1946) está em franco período de instalação. Cogita-se, ainda, da construção de oleodutos, ha vendo, no momento, um anteprojeto que trata da construção de um, entre Santos e São Paulo, 6 que viria favorecer, par ticularmente, a indústria brasileira. En quanto isto, o Conselho Nacional do Pe tróleo continua a fazer prospecções em outros Estados, principalmente no Piauí, Maranhão, Amazonas e Pará (ilha de Marajó) e as esperanças de se organizar uma indústria petrolífera próspera no Brasil se tomam cada vez maiores. En contramo-nos, todavia, num período ex perimental. Tudo, porém, nos leva a crer que o mesmo será ultrapassado e que o petróleo brasileiro será, em futu ro pró.ximo, uma realidade.
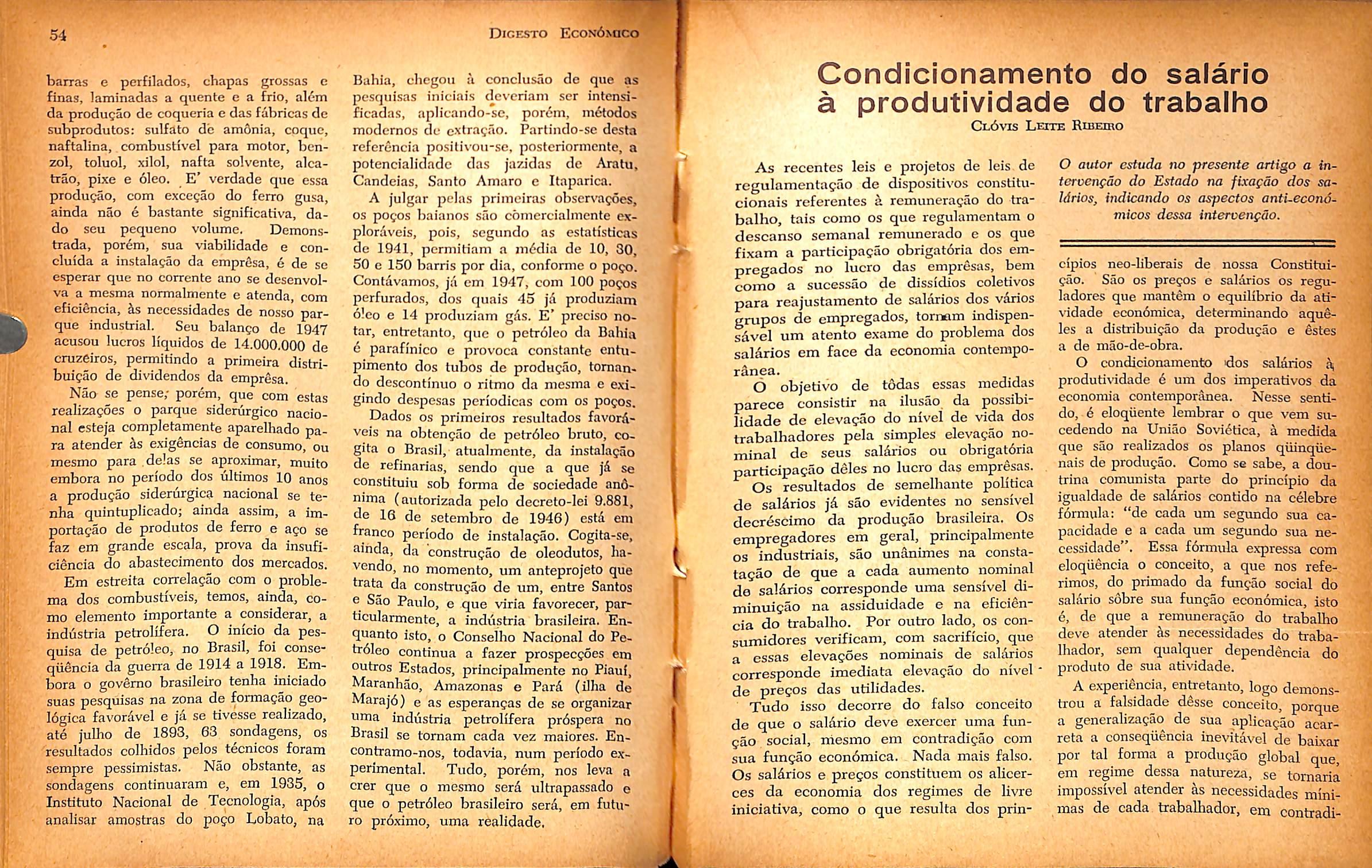
As recentes leis e projetos de leis de regulamentação de dispositivos constitu cionais referentes à remuneração do tra balho, tais como os que regulamentam o descanso semanal remunerado e os que fi.xam a participação obrigatória dos em pregados no lucro das empresas, bem como a sucessão de dissídios coletivos para reajustamento de salários dos vários grupos de empregados, tornam indispen sável um atento exame do problema dos salários em face da economia contempo rânea.
Ò objetivo de tôdas essas medidas parece consistir na ilusão da possibi lidade de elevação do nível de vida dos trabalhadores pela simples elevação no minal de seus salários ou obrigatória participação deles no lucro das empresas.
Os resultados de semelhante política de salários já são evidentes no sensível decréscimo da produção brasileira. Os empregadores em geral, principalmente os industriais, são unânimes na consta tação de que a cada aumento nominal de salários corresponde uma sensível di minuição na assiduidade e na eficiên cia do trabalho. Por outro lado, os con sumidores verificam, com sacrifício, que a essas elevações nominais de salários corresponde imediata elevação do nível de preços das utilidades.
Tudo isso decorre do falso conceito de que o salário deve exercer uma fun ção social, rnesmo em contradição com sua função econômica. Nada mais falso. Os salários e preços constituem os alicer ces da economia dos regimes de livre iniciativa, como o que resulta dos prin-
O autor estuda no presente artigo a inieroenção do Estado na fixação dos sa~ lários, indicando os aspectos anti-econômicos dessa intervenção.
cípios neo-liberais de nossa Constitui ção. São os preços e salários os regu ladores que mantêm o equilibrio da atiridade econômica, determinando aque les a distribuição da produção e êstes a de mão-de-obra.
O condicionamento dos salários àj produtiridade é um dos imperativos da economia contemporânea. Nesse senti do, é eloqüente lembrar o que vem su cedendo na União Soviética, à medida que são realizados os planos qüinqüe nais de produção. Como se sabe, a dou trina comunista parte do princípio da igualdade de salários contido na célebre fórmula: "de cada um segundo sua ca pacidade e a cada um segundo sua ne cessidade". Essa fórmula expressa com eloqüência o conceito, a que nos refe rimos, do primado da função social do salário sôbre sua função econômica, isto é, de que a remuneração do trabalho deve atender às necessidades do traba lhador, sem qualquer dependência do produto de sua atividade.
A experiência, entretanto, logo demons trou a falsidade dêsse conceito, porque a generalização de sua aplicação acar reta a conseqüência inevitável de baixar por tal forma a produção global que, em regime dessa natureza, se tomaria impossível atender às necessidades míni mas de cada trabalhador, em contradi-

ção com os objetivos do regime, como sucedeu catastròficamente na União So viética, antes da NEP e dos planos rpimqüenais. E tal c»nseqüència se tornou patente com o gradual desenvolvimento dos planos qüinqüenais, para cuja exe cução o governo soviético foi obrigado a desprezar aquela fórmula teórica.
Hoje, conforme mostra Ch. Bettellioim cm sua obra — La Planification Sovictique—(Paris, 1945) pág. 165 — a dife renciação dos salários representa o meio mais importante para a realização dos planos qüinqüenais. Desde 1920, diz Ch. Bettelheim citando Lenine, um pro jeto de realização redigido por Tomski para ser apresentado .ao 9°. Congresso afirmava:
"A retribuição do trabalho deve ser colocada na dependência direta dos resultados do trabalho; será comba tido resolutamente todo dêsvio das normas do plano de salários."
Nas linhas seguintes mostra Ch. Bet telheim que o 9.° Congresso se pronun ciou no sentido desse proje to e qu6 a política de salários da União Soviética, através da realização dos planos qüinqüenais, vem-se orien tando cada vez mais decidi damente no sentido da dife renciação de salários e de seu estrito condicionamento à produtividade. Hoje é a União Soviética o país em que o sa lário exerce .uma função mais exclusiva mente econômica, com exclusão de qual quer sentido social.
No Brasil, as necessidades decorrentes da nosso desenvolvimento econômico e de nossa incipiente industrialização im põem semelhante política. E' absoluta-
mente imperativo que os .salários, como os preços, não tenham prejudicada a sua função econômica por considerações de ordem social, sob pena dc prejuízo maior para essa própria ordem social. E' pre ciso não nos esquecermos de que nosso problema ó acima de tudo mn problema de produção. Em um país de imensa extensão territorial e escassos recursos técnicos, cm que o rendimoito da mãode-obra é dos mais ínfimos, a elevação real do nível de vida de no.ssa popula ção trabalhadora é um problema de pro dução, mais do que de distribuição. Pouco beneficiaríamos os trabalhadores no Brasil, se lhes déssemos tcòricamente as mais anipla.s garantias o vanta gens de natureza traballiista, cm um regime econômico de estagnação das fôrças produtivas, incapaz de fornecer a cada um um mínimo decente de utili dades.
A partir dc 1930, nossa política social tem sido infelizmente orientada nesse sentido. Nossas leis asseguram aos^trabalhadoms medidas de proteção traba lhista das mais avançadas; seus salá rios são nominalmente majorados através de uma su cessão de dissídios coletivos; concedemos-lhcs o pagamen to do repouso semanal re munerado nos domingos, fe riados e dias santificados; prometemos-lhcs participação direta e efetiva no lucro das empresas; asseguramos-lhes indenização no caso de despedida in justa e estabilidade no emprego após 10 anos de, serviços. Entretanto, o que observamos é que o índice de pro dutividade "per capita" mantém-se es-\ tacionário, quando não rcgride; que o desenvolvimento da produção industrial se faz a custo do da produção agrária;

que, geralmente, em certas atividades em que os salários sobem nominalmente, a assiduidade e o rendimento no traba lho decaem assustadoramente. Em su ma, chegamos à conclusão de que o po tencial de trabalho no Brasil se mantém relativamente estacionário c que o desen. volvimento de certos setores de produção se faz a custo da estagnação ou da re gressão dc outros setores.
E' essa política que precisa ser revis ta. Todas as nossas iniciativas no senti do da melhoria das condições de vida de nossas massas trabalhadoras se torna rão inúteis ou contruproducçntes se não as fundamentarmos no conceito do pri-" mado do conteúdo econômico do salá rio sôbre o seu conteúdo social. A jurisprudência dos tribunais trabalhistas e os legisladores já começam a ter cons ciência desse fato, nos julgados dos dis sídios coletivos, em que a majoração de salários pleiteada se vem condicionando geralmònte ã assiduidade do trabalho, e em algumas leis de proteção trabalhis ta, como a relativa à remuneração do repouso semanal, em que esse benefí cio é condicionado ao cumprimento inte gral do contrato de trabalho durante a semana.
Entretanto, a generalização do reco nhecimento da importância da assidui dade, como fator do desenvolvimento de nossa economia, não é suficiente. E necessária, repetimos, uma completa re visão de nossa política de preços e de salários, suprimindo-se, em grande par te, a interferência do Estado, para restituir-lhes a liberdade e plasticidade in dispensáveis ao seu adequado funciona mento, como instrumentos reguladores da atividade econômica.
No tocante aos preços, já tivemos opor tunidade de mostrar, em artigo publica do no Digesto Econômico, os malefí
cios da anárquica intervenção das co missões de preços, decorrente do falso conceito de que o movimento dos preços tem um sentido moral e não puramente econômico.
Com relação ao.s salários, basta ura e.xemplo concreto, para evidenciar a magnitude da intervenção do poder pú blico, da qual vem resultando a quase completa supressão de sua plasticidade como reguladores da distribuição do trabalho.
Os salários dos comerciários, majorados segundo uma tabela variável de 10 a 45%, por fôrça de um acôrdo ínterfederativo, homologado pela Justiça do Trabalho em 1945, foram sucessivamen te majorados, por fôrça de dissídios co letivos, em 1947 ua base de 35% e em 1948 na base de 28%, sendo-o agora na basQ, de cerca de 16%, por imposi ção da recente lei de regulamentação do descanso semanal remunerado.
Essas sucessivas majorações de salários representam mais de 100% dos salá rios primitivos. Ora, essa intervenção do Estado é, por princípio, anti-económica. Sem dúvida, razões de ordem social exigem que o Estado inter\'enha nas atividades privadas até um certo limite. No campo dos salários, porém, essa mter\'enção não deve ir além da fixação de um salário mínimo vital, cal culado segundo as peculiaridades de cada atividade e de cada região, sem o qual a livre competição no merca do de trabalho poderia reduzir o sa lário ao que os socialistas chamam de salário de fome. Deve cessar aí a in tervenção do Estado, deixando que as classes superiores de salários e o seu reajustamento às variações do nível de pre ços decorram espontaneamente da con corrência e represente, por essa forma, um incentivo ao aumento da produtivi-

dade do trabalho e ao merecimento do trabalhador.
Considerada sob êsse ponto de vista, toda majoração de salário imposta por via de dissídio coletivo a tôda uma cate goria profissional é condenável, como fa tor de perturbação da atividade económica, geradora da inflação de preços e, quase sempre, contraditória com as ne cessidades do aumento e aprimoramen to da produtividade do trabalho. Sòmente em circunstâncias excepcionais, quando situações econômicas anormais determinam insuportável desequilíbrio entre o nível dos salários de determina do grupo profissional e os preços so mente nessa hipótese se pode admitü que a Justiça do Trabalho intervenha nas re laçóes entre empregadores e empregados, a fim de fixar novo nível de salá rios com o objetivo de reajustá-los às novas condições de vida. E se a majo ração de salários, por via de dissídio coletivo, só deve ser admitida, exclusi vamente, em circunstâncias tais que o desajustamento poderia levar os emprega dos à greve, com tanto mais razão deve ser evitada a freqüen te repetição de dissídios dessa natureza ou a revi são das condições fixa das por via de dissídio, sem que as circunstân cias que os determina ram se tenham alterado profundamen te, criando nova situação de completo desajustamento.
Da mesma forma, tôda legislação de proteção ao trabalho que implique em intervenção direta ou indireta na fixação de salários, como a recente regulamenta ção do descanso semanal remunerado ou o projeto de regulamentação da parti cipação dos empregados no lucro das emprêsas, deve ter como fundamento os
imperativos da justiça social o como li mite a função, não menos imperativa, dos salários como reguladores da distribuição do trabalho e do desenvolvimento da pro dução.
A regulamentação do dispositivo cons titucional referente ao descanso semanal remunerado não obedeceu a essas dire trizes, pois não se limitou a conceder esse benefício aos empregados cujos sa lários, fixados em função do tempo de trabalho, são reduzidos pela ocorrência de dias de descanso, obrigatórios por lei. Indo além dêsse limite, estendeuse aos empregados cujo trabalho, por sua própria natureza, deve estar estrita mente condicionado ao seu resultado. Tal é a situação do trabalho dos empre gados que trabalham por tarefa, por peça ou a domicílio, bem como daqueles cuja remuneração é paga por período de tra balho excedente de uma semana, incluin do, evidentemente, os dias de repouso intercalados em seu decurso.
'Em suma, salvo algumas iniciativas divergentes, nossa política de salários vem sendo orientada no sentido de cons tante intervenção do Es tado, dentro do espírito socialista da inevitabilidade da luta de classes, da qual decorre a cir cunstância de conside rar-se o trabalhador co mo parte indefesa no" contrato de tra balho e de atribuir-se ao Estado o en cargo de sua proteção.
Em face dessa posição de nossa legis lação trabalhista, o dispositivo constitu cional que toma obrigatória a participa ção direta do trabalhador no lucro das emprêsas, cuja regulamentação é obje to de projeto em trânsito no Congresso Nacional, representa tendência inteira mente contrária.
Realmente, conforme tem demonstra do a experiência, só se pode compreen der a participação do trabalhador nos lu cros da emprêsa em regime de comuni dade de interesses entre empregadores e empregados, como etapa para a sociali zação das emprêsas, preconizada por Georges Rippert em sua obra "Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno".
Tal posição pressupõe a gradual su pressão do espírito de luta de classes, substituída pela compreensão da comu nidade de interêsses entre o capital e o trabalho, como fôrças convergentes para o desenvolvimento da produção e a so lução dos problemas sociais do capitalis mo moderno, objetivando a completa in tegração dos fatôres fundamentais da
produção, capital e trabalho, na comxmidade da emprêsa. 1
Somente com tal espírito se pode com preender a participação do trabalho no lucro, mediante sistema em que tal par ticipação seja proporcional à contribui ção daqueles fatôres na formação de lucro, o que representaria a forma mais completa, èm um plano social e nãb sim plesmente individual, de condicionamen to do salário, transformado em partici pação, à produtividade do trabalhei. Uma solução como essa, para os problemas so ciais do capitalismo, representaria no Brasil uma completa subversão de,quase tudo quanto temos feito em matéria tra balhista e o início de uma nova era', cujas diretrizes nem mesmo os paíse^ mais adiantados do mimdo ocidental consegui ram ainda definir. '

A penúria dos meios de produção MenMca será no mêaoLs Estados Unidos, afirmou o sr_. PhSip Murray, presidente ão C.l.O e do Sindicato dos Metalúrgicos. Frisou que a produção de aço de tôdas as outras indústrias e acentuou que "o Sindicato dos Metalúrgicos conterá que o próprio fundamento da nossa economia depende do aumento ao potencial de produção de aço a ponto de satisfazer nossas necessidades a^ois e futuras . S, s. expôs êsses pontos de vista em telegrama que dirigiu ao representante Brent Spence, premente da Comissão Bancária da Câmara, no qual pede ao govêrno que assuma a responsabilidade na construção de usinas de aço, a fim de acelerar a produção.

P Augusto Comtè, era a Economia o i íca de seu tempo uma das muitas ^açoes peculiares à idade crítica ou e a isica. Visavam essas criações deSudal.°° o sistema católicofia^ne(T-!t"^° Protestantismo e a filosoram m^a conlribuípwtutó ir T"'® bases esIdade Mtifl- social herdado da datente ea'' P^^tica espe- cia.mente concorreu para dcstruii-ll,e o arcabouço material. E fê-lo tomando ratorioso, no século XVIII, o movimento que se insurgia contra a organização
re "me' " no antigo
Ninguém^ ignora que a Idade Média transmitiu às monarquias européias mi nuciosa regulamentaçcão quer da produ ção, quer do comércio. Até a Revolução Francesa, as profissões possuíam, regras tradicionais, os ofícios obedeciam a ve lhos costumes, a movimentação do trigo e demais mercadoiias de um ponto para outro de cada país, assim como a saída do numerário, era meticulosamente fis calizada pelos poderes públicos.
Imiscuía-se o governo nos menores as pectos e minudências, sendo a- cada pas so a indústria e o comércio embaraça dos por entraves legislativos. Eis al guns exemplos da situação criada .em França pelos regulamentos das corpora ções de ofício; os padeiros tínliam o di reito de fazer demolir os fomos particu lares; os boticários obtinham, perante os tribunais, a condenação dos atacadistas
que vendessem ruibarbo ou qualquer ou tro medicamento sem ser em grandes caixas inteiras.
Houve um caso cm quõ mestres de dança fizeram condenar um lacaio por haver organizado uma sarabanda sem o concurso déles... Os passamaneiros ob tiveram a proibição dos botões nno re cobertos de pano; os tecclões c especia listas de bordados impediam o comér cio de tecidos estampados. Um salsiclieiro não pòdia comprar um suíno vivo: de via obter, no açougue, a carne já aba tida. O churrasquciro tinha o direito de abater ele próprio o frango e mesmo o cordeiro, mas, se quisesse assar um car neiro, tinha de adquiri-lo, já abatido, do açougueiro. Por sua vez, o vendedor de assados perseguia o pasteleiro, proiindo-lhe assar, ele próprio, a carne de que se servia em suas empadas e pastéis. ma sentença do consellio do rei de França, com a data de I de fevereiro de 1737, regulou da seguinte maneira a abricação e a venda de leques: o fabri cante das varetas podia faze-las, mas não " podia armá-las; o fabricante de lequès tinha o direito de montar as varetas, mas não o de vender, diretamente ao consumidor, os leques já Iprontos: a sua venda era exclusiva dos donos de arma rinho... (1)
Passou, entretanto, a economia política a pregar, em nome da ciência, a abo lição de tôdas essas instituições dos se^ culos idos. Suprimiu, na Revolução Francesa, as corporações de ofício, ins taurou a liberdade ilimitada do comércio
Dicesto EcoNÓxnco
e proclamou os benefícios do individua lismo. Foi, pois, a sua obra — assinala va Comtc — antes de mais nada, uma obra destrutiva ou crítica, isto é, de'de sorganização e anarquia no sentido pre ciso e rigoroso do tênno.
Tanto mais cabalmente preencheu a velha economia política o papel históri co que lhe atribui o filósofo quanto re duzia, como \'imos, a quase nada as atri buições do Estado, convencendo os pró prios governantes de sua radical inaptidão para dirigirem o surto industrial, proclamando serem os governos tanto me lhores quanto menos governam...(2)
E, assim, o governo que em toda si tuação normal c a cabeça da sociedade, o guia e o agente da ação geral, foi sistemàticamente despojado, pela economia política, de todo princípio de atividade. Privado de qualquer conjunto do organismo social, foi por ela reduzido a um papel puramente negativo. E passou- ;. se a encarar a sua ação como es tritamente limitada a manter a tranqüilidade pública, o.que jamais pôde ser senão um objeto subalterno, cuja im portância o evolver da civilização vai sem pre atenuando, visto tomar a ordem cada vez mais fácil de ser conservada. (3)
De acôrdo com a pregação dos eco nomistas, deixou, portanto, o govêmo, de ser concebido como o aparelho dire tor da sociedade, tendo por fim unir em feixe as atividades individuais, fa zendo-as convergir para um alvo co mum. Começou, ao contrário, a ser apontado como um inimigo natural, en trincheirado no meio da sociedade, de vendo esta contra ele premunir-se e conservar-se em estado permanente de hostilidade defensiva, prestes a explodir ao primeiro sinal de ataque. (4)
Esta aberração dos economistas, que redundava enfim em se repelir qual quer govêmo, somente pode ser expli cada pelas intervenções feitas no domí nio econômico durante o antigo regi me e que se tomaram viciosas no mundo moderno de âmbito incomparàvclmente maior do que o medievo.
Digo "intervenções que se tomaram viciosas no mundo moderno" porquê, na Idade Média, tinham ampla razão de ser.
Sabedoria da legislação econômica medieval
E, efetivamente.
O campo econômico de cada unida de cívica da Idade Média era muito limitado. Raramente ul trapassava o recinto fortificado . i de cada cidade. De enorme ris.'i CO para os comerciantes, até à, formação das grandes monar quias européias, era ayenturarem-se além de suas lindas natais. Os mercados externos, que, na modemidade, passaram a constituir um recurso valioso para o excedente da produção, não exis tiam. Tomava-se, assim, necessária con tínua vigilância a fim de assegurar-se, a cada membro das classes produtoras, a possibilidade de encontrar, no seu pró prio trabalho, a garantia de sua subsis tência. Convinha, portanto, dividir eqüitativamente um mercado que, na hipótese mais favorável, só crescia com extrema lentidão. Via-se, destarte, cada govêmo local obrigado a imiscuir-se nos menores ■aspectos e minudências da produção, em baraçando, a cada passo, a indústria e o comércio com entraves legislativos. A partir da Renascença, ao -contrário, as
navegações transoceânicas, decorrentes da descoberta da América e do caminho marítimo da Índia, derramaram sôbre a Europa as mais abundantes e variadas riquezas. E a velha economia medieval, restrita a pequenas regiões e capaz de satisfazer a todas as necessidades locais, pouco a pouco foi sendo derrocada pela formação das grandes monarquias euro péias 6 pelo surto dos poderosos e vastos empórios comerciais de Portugal, Espa nha, Inglaterra e Países Baixos. Trans formaram-se, pois, as bases econômicas até então vigentes, e desapareceu a ra zão de ser dos antigos órgãos regulado res da sociedade medieva. Surgem e separam-se dos simples trabalhadores os empresários ou industriais pròpriamente ditos. A manufatura intensiva e padro nizada, com a introdução das máquinas substitui a produção das corporações de ofício que, em geral, trabalhavam de acôrdo com as encomendas recebi das, em pequenas oficinas domiciliares onde o mestre e seus aprendizes forma vam como que uma só família.
No século XVIII, portanto, quando surgem Adam Smith e os físiocratas, o problema econômico Já não se apresenta-
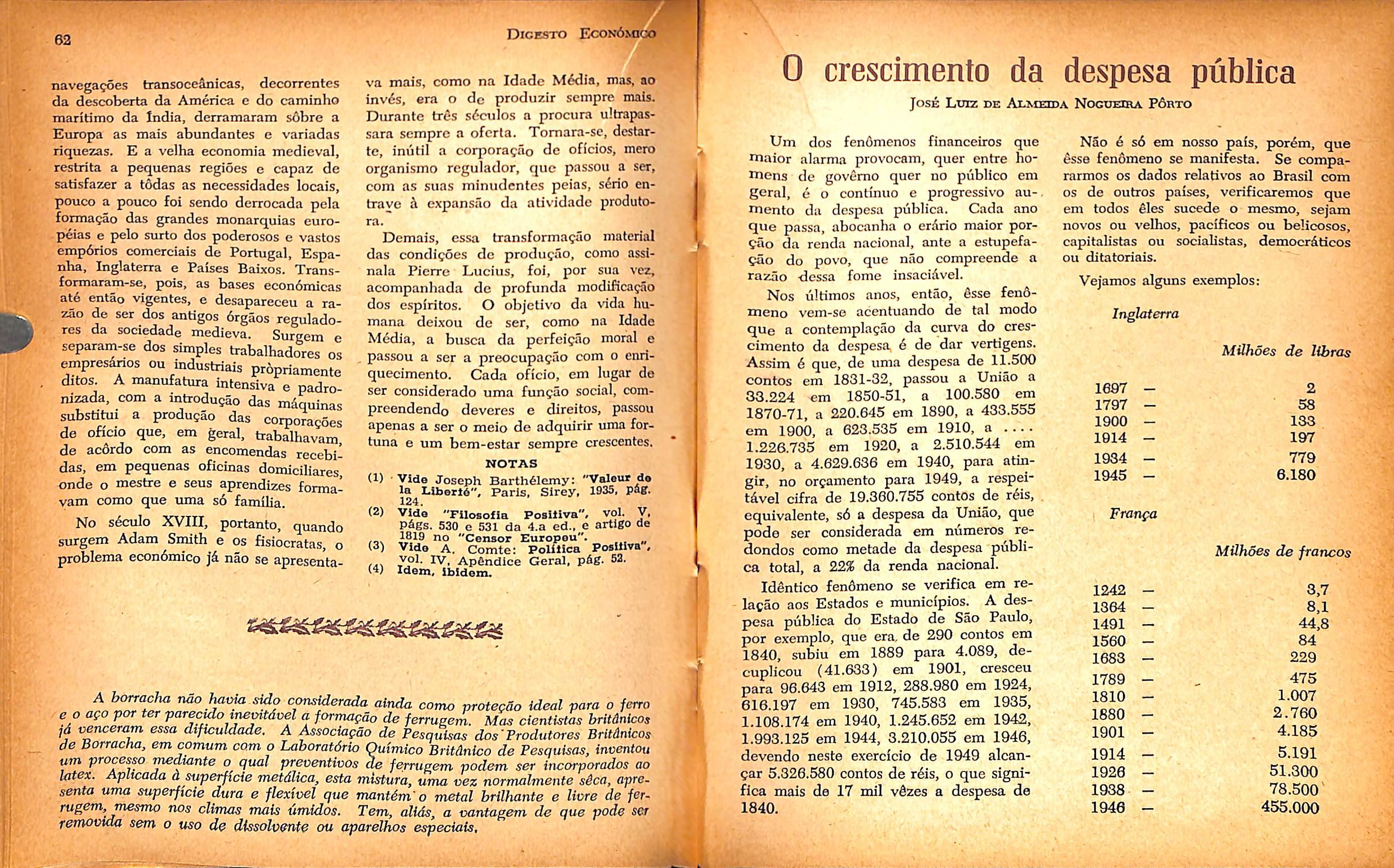
va mais, como na Idade Média, mas, ao invés, era o dc produzir sempre mais. Durante trés séculos a procura ultrapas sara sempre a oferta. Tomara-se, destar te, inútil a corporação de ofícios, mero organismo regulador, que passou a ser, com as suas minudentes peías, sério en trave à expansão da atividade produto ra.
Demais, essa transformação material das condições dc produção, como assi nala Picrre Lucius, foi, por sua vez, acompanliada de profunda modificação dos espíritos. O objetivo da \'ida hu mana deixou de ser, como na Idade Média, a busca da perfeição moral e passou a ser a preocupação com o enri quecimento. Cada ofício, em lugar de ser considerado uma função social, com preendendo devores e direitos, passou apenas a ser o meio de adquirir uma for tuna e um bem-estar sempre crescentes.
{!) Vide Joseph Barthélemy: "Valeur de Ia Liberté", Paris, Sirey, 1935, pag. 124.
(2) Vide "Filosofia Posiliva", vol. V. Págs. 530 e 531 da 4.a ed.. e artigo de /ox "Censor Europeu". (3) Vido A. Comte: Polilica Posiliva , rv. Apêndice Geral. pág. 52. (4) Idem, ibidenu como proteção ideal para o ferro e o aço por ter parecido tnemtável a formação de ferrugem. Mas dentistas britânicos já venceram essa dificuldade. A Associação de PesqSisas dos'Produtoi-es Britânicos de Borracha, em comum com o Laboratório Químico Britânico de Pesquisas, inventou um processo mediante o qual preventivos de ferrugem podem ser incorporados ao látex. Aplicada à superfíde metálica, esta mistura, uma vez normalmente sôca, apre senta uma superfície dura e flexível que mantém'o metal brilhante e livre de fer rugem, mesmo nos climas mais úmidos. Tem, aliás, a vantagem de que pode ser removida sem o uso de dissolpente ou aparelhos especiais.
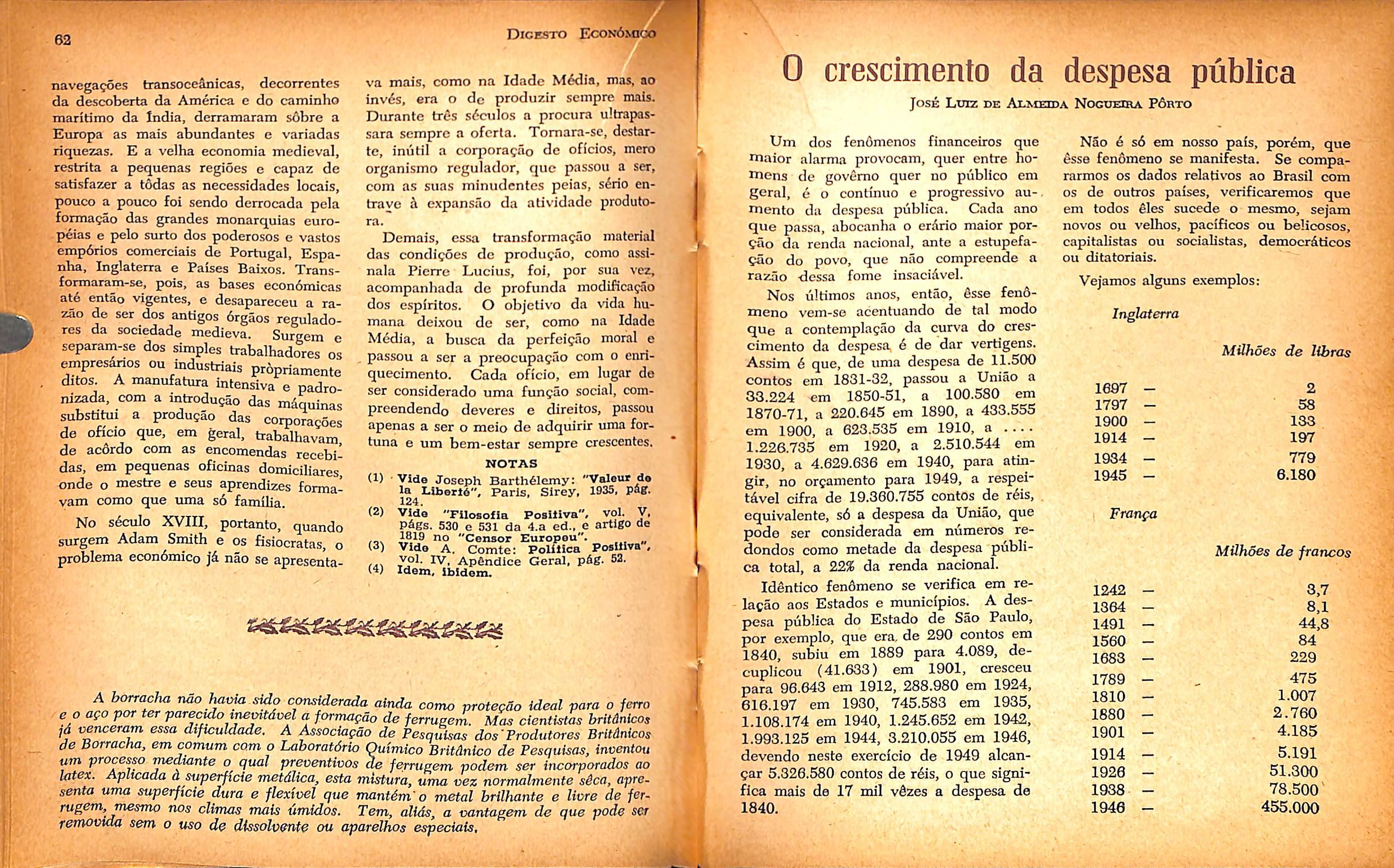
Um dos fenômenos financeiros que maior alarma provocam, quer entre ho mens de governo quer no público em geral, é o contínuo e progressivo au-. mento da despesa pública. Cada ano que passa, abocanha o erário maior por ção da renda nacional, ante a estupefa ção do povo, que não compreende a razão dessa fome insaciável.
Nos últimos anos, então, êsse fenô meno vem-se acentuando de tal modo que a contemplação da curva do cres cimento da despesa é de dar vertigens. Assim é que, de uma despesa de 11.500 contos em 1831-32, passou a União a 33.224 em 1850-51, a 100.580 em 1870-71, a 220.645 em 1890, a 433.555 em 1900, a 623.535 em 1910, a 1.226.735 em 1920, a 2.510.544 em 1930, a 4.629.636 em 1940, para atin gir, no orçamento para 1949, a respei tável cifra de 19.360.755 contos de réis, . equivalente, só a despesa da União, que pode ser considerada em números re dondos como metade da despesa públi ca total, a 22% da renda nacional.
Idêntico fenômeno se verifica em re lação aos Estados e municípios. A des pesa pública do Estado de São Paulo, por exemplo, que era, de 290 contos em 1840, subiu em 1889 para 4.089, decuplicou (41.633) em 1901, cresceu para 96.643 em 1912, 288.980 em 1924, 616.197 em 1930, 745.583 em 1935, 1.108.174 em 1940, 1.245.652 em 1942, 1.993.125 em 1944, 3.210.055 em 1946, devendo neste exercício de 1949 alcan çar 5.326.580 contos de réis, o que signi fica mais de 17 mil vêzes a despesa de 1840.
Não é só em nosso país, porém, que êsse fenômeno se manifesta. Se compa rarmos os dados relativos ao Brasil com os de outros países, verificaremos que em todos êles sucede o mesmo, sejam novos ou velhos, pacíficos ou belicosos, capitalistas ou socialistas, democráticos ou ditatoriais.
Vejamos alguns exemplos:
Inglaterra
Itália Milhões de Uras
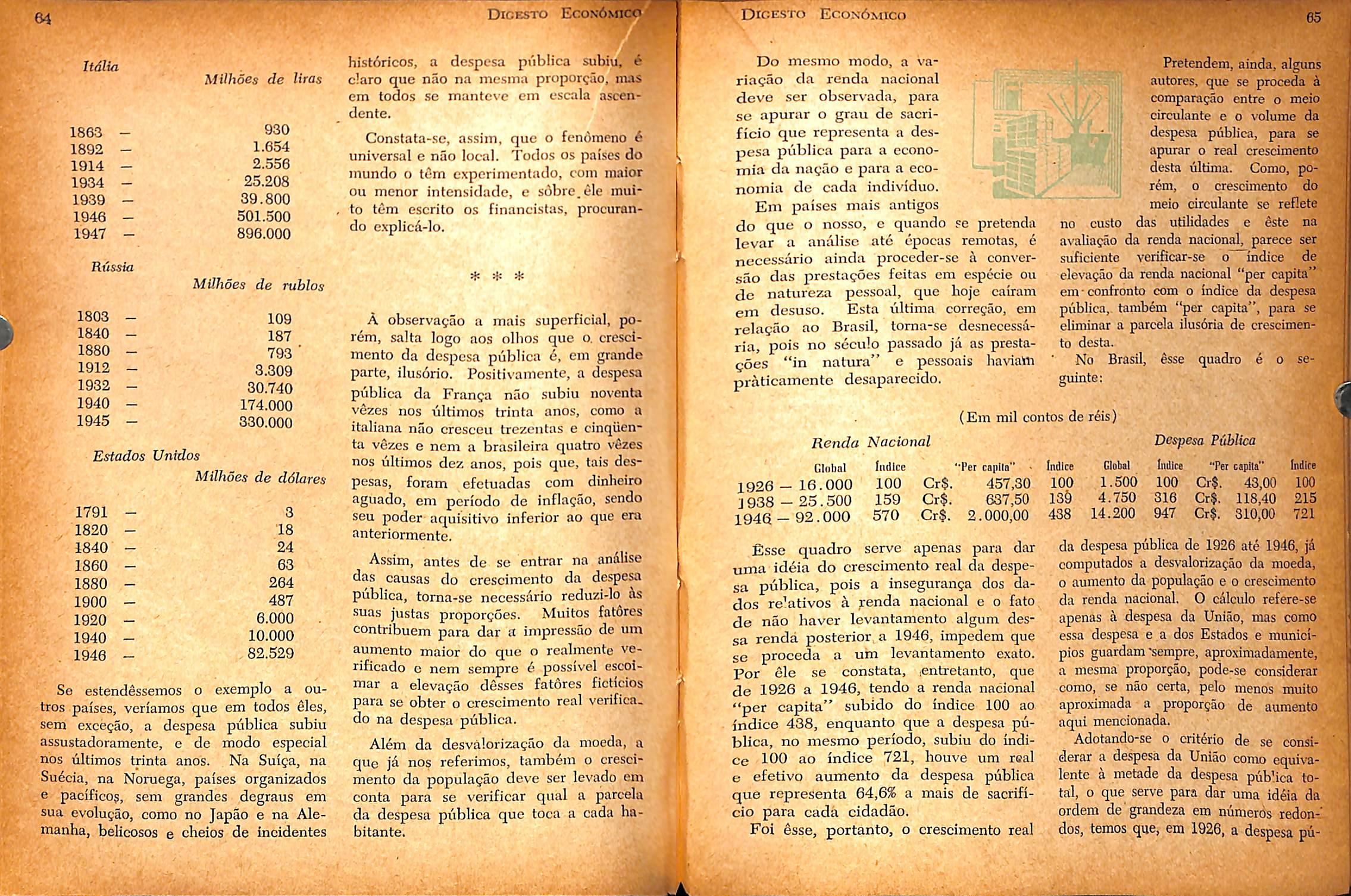
Rússia
Milhões de rublos
-
Estados Unidos Milhões de dólares
históricos, a despesa pública subiu, é claro que não na mesma proporção, mas em todos se manteve em escala ascen dente.
Constata-se, assim, que o fenômeno é universal e não local. Todos os países do mundo o têm experimentado, com maior ou menor intensidade, c sòbre.êle mui to têm escrito os financistas, procuran do e.\plicá-lo. * * *
 observação a mais superficial, po rém, salta logo aos olhos que o. cresci mento da despesa pública é, em grande parte, ilusório. Positivamente, a despesa pública da França não subiu noventa vezes nos últimos trinta anos, como a italiana não cresceu trezentas e cinqüen ta vezes e nem a brasileira quatro vêzes nos últimos dez anos, pois que, tais des pesas, foram efetuadas com dinheiro aguado, eni período de inflação, sendo seu poder aquisitivo inferior ao que era anteriormente.
Se estendêssemos o exemplo a ou tros países, veríamos que em todos êles, sem exceção, a despesa pública subiu assustadoramente, e de modo especial nos últimos trinta anos. Na Suíça, na Suécia, na Noruega, países organizados e pacífico?, sem grandes degraus em sua evolução, como no Japão e na Ale manha, belicosos e cheios de incidentes
Assim, antes de se entrar na análise das causas do crescimento da despesa pública, toma-se necessário reduzi-lo ás suas justas proporções. Muitos fatôres contribuem para dar a impressão de um aumento maior do que o realmente ve rificado e nem senrpre é possível escoimar a elevação desses fatôres fictícios para se obter o crescimento real verifica do na despesa pública.
Além da desvalorização da moeda, a que já nos referimos, também o cresci mento da população deve ser levado em conta para se verificar qual a parcela da despesa pública que toca a cada ha bitante.
Do mesmo modo, a va riação da renda nacional devo ser obser\'ada, para se apurar o grau de sacri fício que representa a des pesa pública para a econo mia da nação e para a eco- >' nomia de cada indivíduo.
Em países mais antigos do que o nosso, e quando se pretenda levar a análise até épocas remotas, é necessário ainda proceder-se à conver são das prestações feitas em espécie ou de natureza pessoal, que hoje caíram em desuso. Esta última correção, em relação ao Brasil, toma-se desnecessá ria, pois no século passado já as presta ções "in natura" e pessoais haviam praticamente desaparecido.
Renda Nacional
Glolial
1926 - 16.000
1938 - 25.500
1946- 92.000
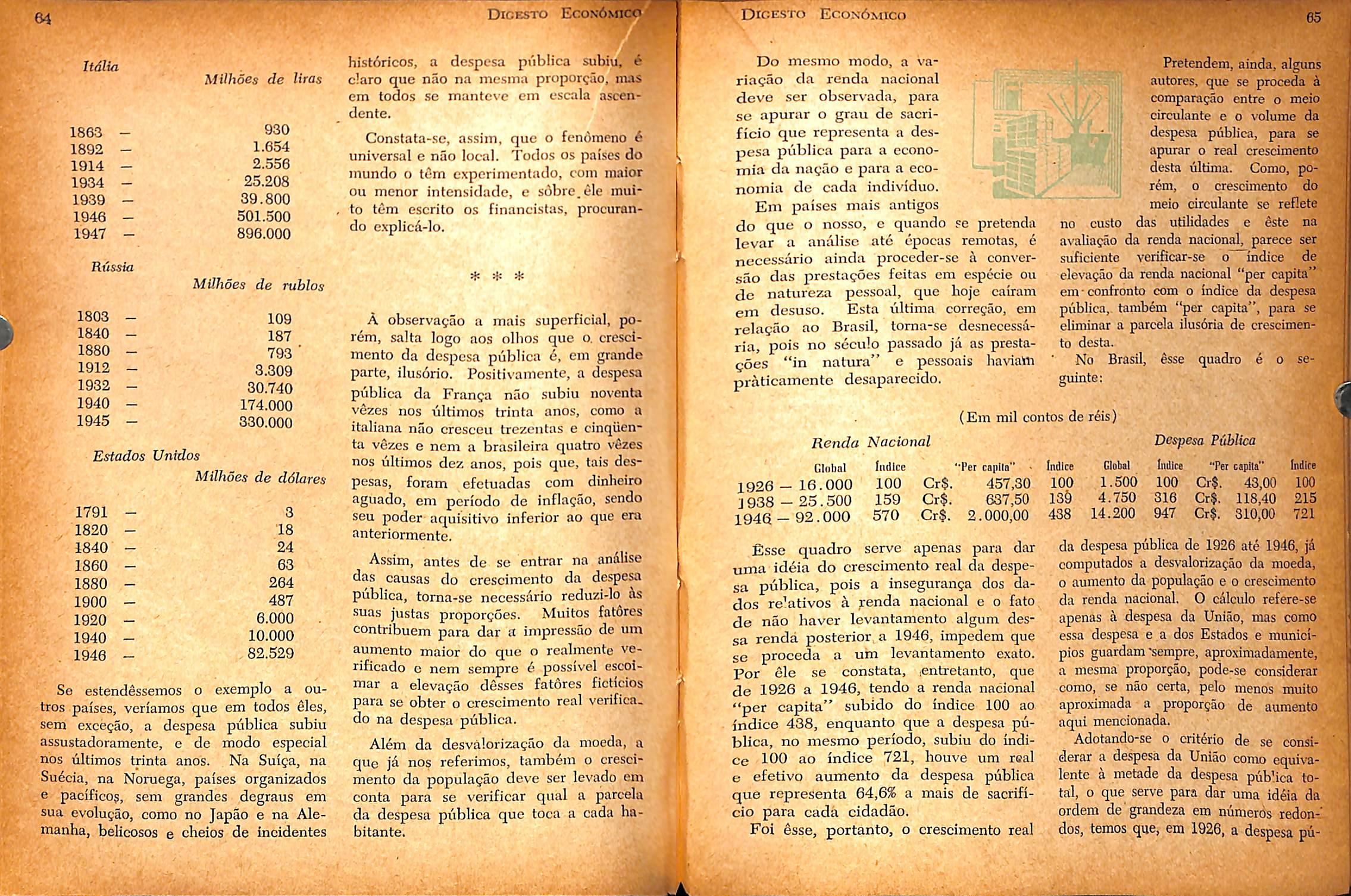
índice 100 159 570
Pretendem, ainda, alguns autores, que se proceda à comparação entre o meio circulante e o volume da despesa pública, para se apurar o real crescimento desta última. Como, po rém, o crescimento do meio circulante se reflete no custo das utilidades e êste na avaliação da renda nacional, parece ser suficiente verificar-se o índice de elevação da renda nacional "per capita" em-confronto com o índice da despesa pública, também "per capita", para se eliminar a parcela ilusória de crescimen to desta.
No Brasil, êsse quadro é o guinte: se-
(Em mil contos de réis)
"Per ca|iita" • Indica
Despesa Pública
Cr$. 457,30 100 Cr$. 637,50 13Ô Cr§. 2.000,00 438 Global Lidice "Per caplla" índice
Êsse quadro serve apenas para dar uma idéia do crescimento real da despe sa pública, pois a insegurança dos da dos relativos à renda nacional e o fato de não haver levantamento algum des sa rendá posterior,a 1946, impedem que se proceda a um levantamento exato. Por ele se constata, .entretanto, que de 1926 a 1946, tendo a renda nacional "per capita" subido do índice 100 ao índice 438, enquanto que a despesa pú blica, no mesmo período, subiu do índi ce 100 ao índice 721, houve um real e efetivo aumento da despesa pública que representa 64,6% a mais de sacrifí cio para cada cidadão.
Foi êsse, portanto, o crescimento real
da despesa pública de 1926 até 1946, já computados a desvalorização da moeda, o aumento da população e o crescimento da renda nacional. O cálculo refere-se apenas à despesa da União, mas como essa despesa e a dos Estados e municí pios guardam "sempre, aproximadamente, a mesma proporção, pode-se considerar como. se não certa, pelo menos muito aproximada a proporção de aumento aqui mencionada.
Adotando-se o critério de se consi derar a despesa da União como equi\'alente à metade da despesa pública to tal, o que serve para dar uma idéia da ordem de grandeza em números redom! dos, temos que, em 1926, a despesa pú-
blica absorvia 18,75® da renda nacional; em 1938, subiu a 37,25® e em 1946 bai
xou a 30,8®. Enquanto isso, em outros países, a relação foi a seguinte:
(Em bilhões de francos)

Renda N" acional
Carga Fiscal S 1946 2^^
(Em bilhões de dólares)
Torcentagem da carga fiscal sóbrea renda nac.
porcentagem da carga fiscal sdhre a renda nac, 12 ®
(Em milhões de libras)
Renda Nacional
Porcentagem da carga fiscal séhre a renda nac.
Note-se que êsses dados se referem à carga fiscal e não à despesa pública, que sempre é muito maior, dados os re cursos a empréstimos, aos proventos de rendas industriais etc. * *
Enumeram os financistas muitas causas para o crescimento das despesas públi-
cas, justificáveis umas c mórbidas ou tras. Dentre as primeiras, cita-se o desenvolvimento das funções do Estado que, de sua primitiva função de mero produtor de Isegurança, invade cada vez mais o campo da ação social, cui dando da instrução e da saúde pública, construindo estradas, desenvolvendo a indústria pesada, explorando fontes de energia, amparando a produção etc.

Essa causa é uma das principais res ponsáveis pela elevada porcentagem de crescimento verificada nestes últimos cem anos.
Também se apontam como motivo importante do fenômeno as despesas militares. Hpjc, elas absorvem parcela considerável dos orçamentos das gran des nações, e os dois conflitos mundiais que êste meio século já presenciou e outros que se esboçam no futuro têm contribuído para elevá-las a proporções vertiginosas, nas nações líderes do mun do.
Em tôdas as épocas houve guerras, e sempre as nações se prepararam para elas. Sucede, porém, que a guerra humana é menos dispendiosa do que a guerra me cânica. Uma só bomba atômica custa tanto quanto custava uma guerra de muitos anos há alguns séculos passados. Não se pode comparar o custo da moderna maquinaria bé lica com o do equipa mento de guerreiros me dievais ou mesmo de urn exército de Napoleão. Por isso, nestes últimos tempos, a des pesa militar sobrepuja a tôdas as ou tras nos orçamentos das grandes nações. Outra causa do crescimento da des pesa pública, a que alguns autores, co mo Leroy Beaulieu e Enrico Barone, dão especial importância, é a crescente facilidade de crédito,
No último século, o mecanismo do cré dito tem-se aperfeiçoado consideravel mente e dele têm lançado mão os poderes públicos para as necessidades orça mentárias, sobrecarregando os orçamen tos futuros com encargos de juros e amortizações. A insuficiência da receita não constitui mais obstáculo à execução
de^ planos, algumas vezes grandiosos e inúteis, de governos ávidos de populari dade. Os empréstimos 05tensi\'0s, inter nos 6 externos ou disfarçados, como no caso de emissão de papel-moeda, são um manancial de receita que aos go vernos parece inexgotável e do qual se utilizam Largamente, atirando os ônus sôbre as costas das gerações futuras.
Finalmente, uma causa que Gonzales Litardo considera mórbida é a política eleitoral, decorrente da participação ca da vez maior das classes populares na vida pública.
O desen\'oh'imento das instituições democráticas, principalmente quando sob a influência de idéias sociaÜstas, tem sido apontado por quase todos os tratadistas como causa de crescimento da despesa pública. Diz-se
— e com certa razão que, em uma democra cia popular, aquêles que decidem sobre as despesas públicas são, / I I I I I freqüentemente, os que lí' 1 menos impostos pagam. Os representantes do povo fazem cumprimen tos ao eleitorado com chapéu alheio. Essa causa do crescimento da despesa pública, porém, é muito mais teórica do que real, pois se é verdade que da de mocracia popular resultam maior assis tência social e maiores obras públicas, muitas de caráter demagógico, nas di taduras e nos governos centralizados ve rifica-se maior dispêndio com aparelhamento bélico e pohcial e grau mais ele vado de dilapidação dos dínheiros pú blicos. Na Alemanha e na Itália, por exemplo, nunca a despesa pública real foi tão elevada como sob os governos nazista e fascista.
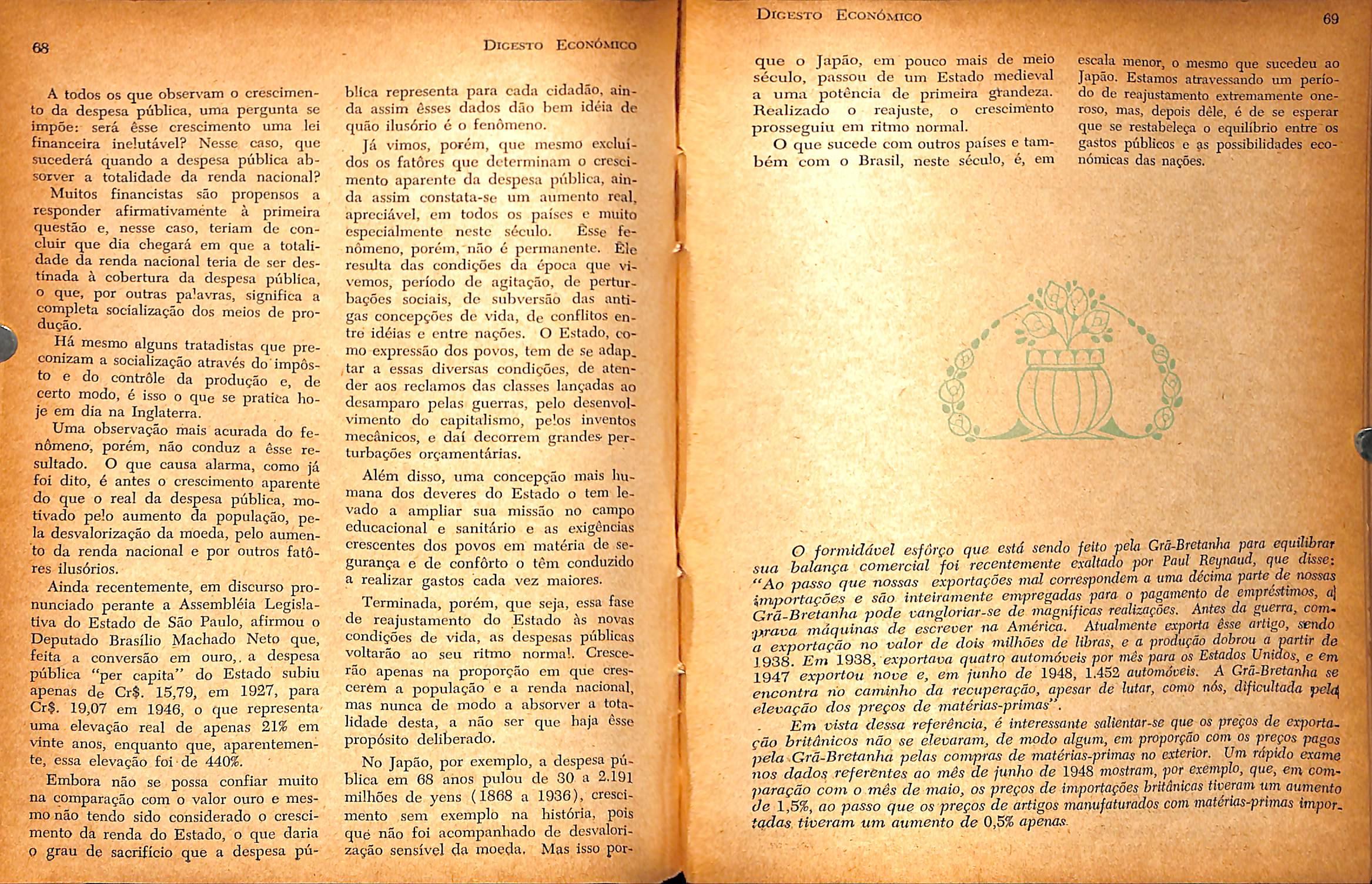
A todos os que obsen'am o crescimen to da despesa pública, uma pergunta se Impõe: será êsse crescimento uma lei financeira inelutável? Nesse caso, que sucederá quando a despesa pública ab sorver a totalidade da renda nacional?
Muitos financistas são propensos a responder afirmativamente à primeira questão e, nesse caso, teriam de con cluir que dia chegará em que a totali dade da renda nacional teria de ser des tinada à cobertura da despesa pública, o que, por outras palavras, significa a completa socialização dos meios de pro dução.
Há mesmo alguns tratadistas que pre conizam a socialização através do impôsto e do contrôle da produção e, de certo modo, é isso o que se pratica ho je em dia na Inglaterra.
Uma observação mais acurada do fe nômeno, porém, não conduz a ôsse re sultado. O que causa alarma, como já foi dito, é antes o crescimento aparente do que o real da despesa pública, mo tivado pelo aumento da população, pe la desvalorização da moeda, pelo aumen to da renda nacional e por outros fatôres ilusórios.
Ainda recentemente, em discurso pro nunciado perante a Assembléia Legisla tiva do Estado de São Paulo, afirmou o Deputado Brasílio Machado Neto que, feita a conversão em ouro,, a despesa pública "per capita" do Estado subiu apenas de Cr$. 15,79, em 1927, para Cr$. 19,07 em 1946, o que representauma elevação real de apenas 21% em vinte anos, enquanto que, aparentemen te, essa elevação foi de 440%.
Embora não se possa confiar muito na comparação com o valor ouro e mes mo não tendo sido considerado o cresci mento da renda do Estado, o que daria O grau de sacrifício que a despesa pú-
blíca representa para cada cidadão, ain da assim ésses dados dão bem idéia dc quão ilusório c o fenômeno.
Já vimos, porém, que mesmo excluído.s os falôrcs que determinam o cresci mento aparento da despesa pública, ain da assim conslata-sc um aumento real, apreciável, em todos os paí.scs e muito especialmente neste século. Êsse fe nômeno, porém, não c permanente. Êlc resulta das condições da época que vi vemos, período de agitação, de pertur bações sociais, dc subversão das anti gas concepçõe.s de vida, de conflitos en tro idéias o entre nações. O Estado, co mo expressão dos povos, tem de se adap. ,tar a essas diversas condições, de aten der aos reclamos das classes lançadas ao desamparo pelas guerras, pelo desenvol vimento do capitalismo, pelos inventos mecânicos, e daí decorrem grandes- per turbações orçamentárias.
Além disso, uma concepção mais hu mana dos deveres do Estado o tem le vado a ampliar sua missão no campo educacional e sanitário e as exigências crescentes dos povos em matéria de se gurança e de confôrto o tem conduzido a realizar gastos cada vez maiores.
Terminada, porém, que seja, essa fase de reajustamento do Estado òs novas condições de vida, as despesas públicas voltarão ao seu ritmo normal. Cresce rão apenas na proporção em que cres cerem a população e a renda nacional, mas nunca de modo a absorver a tota lidade desta, a não ser que haja êsse propósito deliterado.
No Japão, por exemplo, a despesa pú blica em 68 anos pulou de 30 a 2.191 milhões de yens (1868 a 1936), cresci mento sem exemplo na história, pois qué não foi acompanhado de desvalori zação sensível da moeda. Mas isso por-
que o Japão, em pouco mais de meio século, passou de um Estado medieval a uma potência de primeira gVandeza.
Realizado o reajuste, o crescimento prosseguiu em ritmo normal.
O que sucede com outros países e tam bém com o Brasil, neste século, é, em
escala menor, o mesmo que sucedeu ao Japão. Estamos atravessando um perío do de reajustamento extremamente one roso, mas, depois dèle, é de se esperar que se restabeleça o equilíbrio entre os gastos públicos e as possibilidades eco-' uónücas das nações.
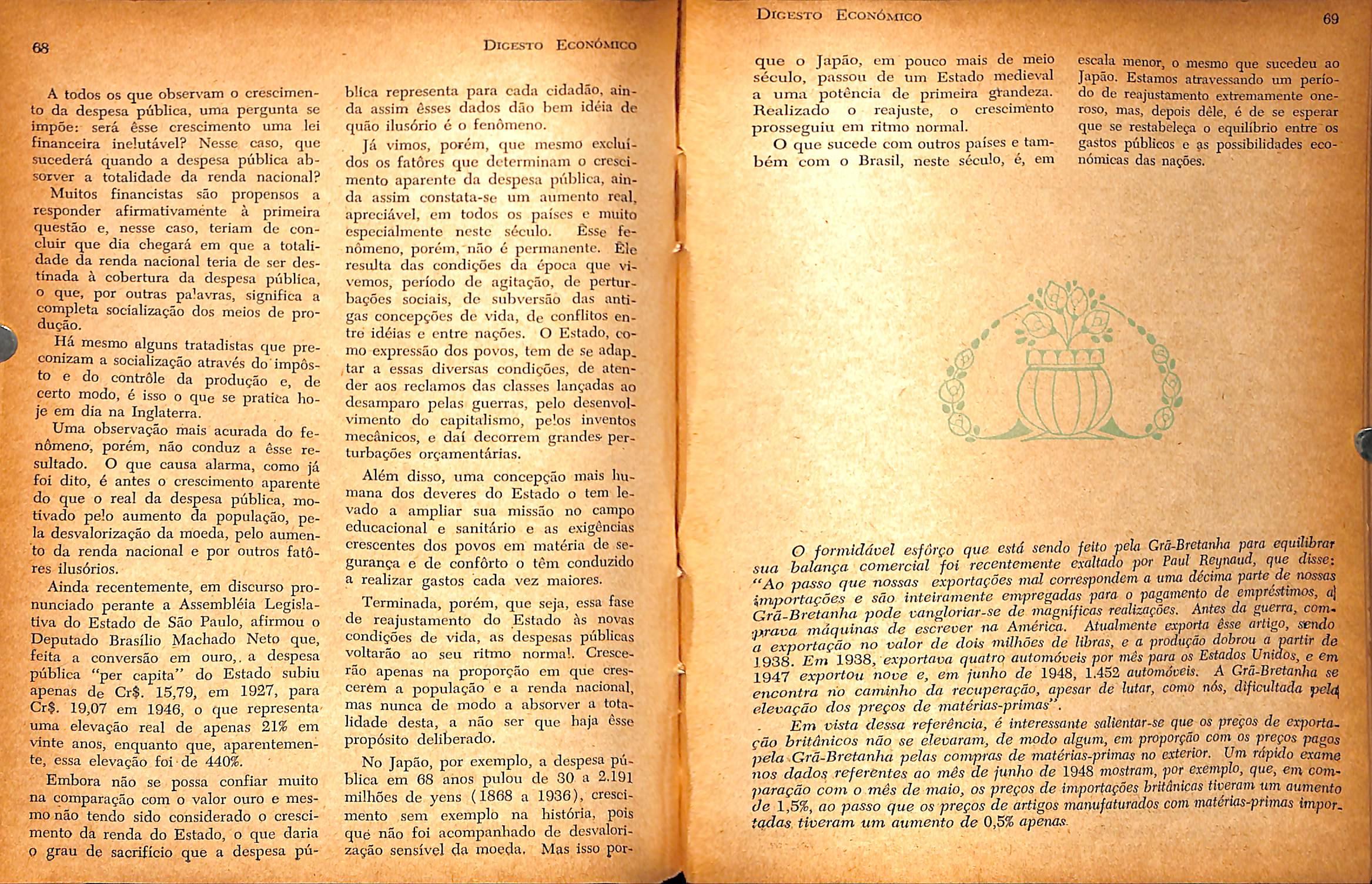
sua
O formidável esjôrço que está sendo feito peh Grã^Bretardm para equilíbraT UU balança comercial foi recentemente exaltado por Paul Reynaud qtie disse: Ao passo que nossas exportações mal correspondem a uma décima parte de nossas importações e são inteiramente empregadas para o pagamento de empréstimos, oj Grã-Bretanha pode vangloriar-se de magníficas realizações. Antes da guerra, conu ■prava máquinas do escrever na América. Atualmente exporta êsse arligo, sendo a exportação no valor de dois milhões de libras, e a produção dobrou a partir de J 938. Etn 1938, exportava quatro auiomóveis por mês para os Estados Unidos, e Cm exportou nove e, em junho de 1948, 1.452 automóveis, A Grã-Bretanha se encontra rio caminho da recuperação, apesar de lutar, como nós, dificultada pel<^ elevação dos preços de matérias-primas".
Em vista dessa referência, é interessante salientar-se que os preços de cx^yortação britânicos não se elevaram, de modo algum, em proporção com os preços pagos pela Grã-Bretanha pelas compras de matérias-primas no exterior. Um rápido exame nos dados referentes ao mês de junho de 1948 mostram, por exemplo, que, em com paração com o mês de maio, os preços de importações britânicos tiveram um aumento de 1,5%, ao passo que os preços de artigos manufaturados com matérias-primas tmpor, todas tiveram um aumento de 0,5% apenas.
0 Brasil sempre teve o qualificativo, honroso, de "país de bacharéis", razão da preferência j Escolas de Direito desde o 1.° einado. Muito antes da instituição dos ursos Jurídicos no Brasil já se notava, n e nós, muita inclinação para o Di1 o, certamente por influência, em dos primitivos doutores 7 de onde saíram os primeiEscolas. A Univertemn^ ^ tradicional ao empo da_ Independência do Brasil, teve decisiva na vocação jurídica so pais. Mas não se pode deixar de levar em consideração, ao mesmo tempo, um fenômeno de ordem geral: o ambiente revolucionário dos últimos lustros do século XVIII e comêço do século XIX.
O crepúsculo do absohitismo, alte rando profundamente a concepção do Estado e modificando o sistema de re lações entre governantes e governados, abriu perspectivas bem largas ao Direito. Em conseqüência dos acontecimentos políticos, a mocidade que estudava em Coimbra empolgou-se logo cedo pelo constitucionalismo, o que, lògicamente, não podia deixar de acontecer, porque era nos estudos de Direito que mais se faziam sentir as transformações por que passava o Velho Mundo. Os primeiros estudantes de Olinda, onde se iniciou o ensino de Direito no Brasil, teriam- de receber, como receberam, a influência direta do espírito universitário da época de transição do absolutismo para o constitucionalismo. Não era exclusivamen te a simples aspiração a um título, a
uma corta de bacharel, como se costu mava dizer, o que levava a mocidade ás Escolas de Direito, mas a sedução da carreira jurídica, o prestígio intelectual dos centros estudantis.
O Brasil estava nascendo como Na ção, e o campo mais franco para as vo cações que iam despontando era o Di reito, visto ser ainda acanhado o am biente para outras profis-sões liberais. Assim foi durante o Império, conquan to o ensino médico seja anterior ao ju rídico. Ma.s a profí.ssão médica está, por natureza, equidístante dos fenôme nos políticos no que possam êles ofere cer interôsse científico, o que não se dá com a de jurista, cuja função social es tá intimamente vinculada à evolução, da ciência política. Mas a preponderân cia dos bacharéis na vida política do país tem suas causas nas próprias con dições em que se fêz o embasamento espiritual de sua formação. Comece mos por um fato notòriamente conheci do: o Brasil nunca foi e ainda não é um país industrial. Por aí já se pode ver que não seria possível, antes de tempo, formar "mentalidade técnica" ou dar outro rumo à educação inicial do Brasil, porque ainda estávamos mui to longe dos fatos que concorreram" pa ra a transição de nossa primitiva eco nomia rotineira para uma economia tan to quanto possível adaptada à nova fi sionomia econômica do mundo, após duas guerras de proporções espantosas. Não havia ambiente para agrônomos, químicos, técnicos de laboratório etc. Ainda hoje, apesar de se repetir a cada passo que o Brasil é um país essencial-


mente agrícola, os nossos agrônomos, a não ser que estejam em função oficial, não têm, pràticamente, campo favorável no interior do Brasil, onde ainda o empírismo agrícola, sob vários aspectos, prefere a improvisação à técnica, à orientação científica. Nos grandes cen tros urbanos, e não nas zonas rurais, a industrialização já oferece vantagens ao engenheiro, ao químico, ao arquiteto etc., mas, ainda assim, tais profissões de pendem das inversões de capitais, por que a febre de construções, por exemplo, guarda relação com o estado financeiro do país. Tivemos exemplo recente, com a inflação. As profissões técnicas têm, portanto, suas fases de crise, principal mente nos países co mo o Brasil, onde não há economia do base industrial.
Não Se pode dizer que a orientação da mocidade, hoje, em relação à vida profis sional, seja a mesma de antes da guerra, hipótese inadmissível, porque as nossas con dições de vida sofre ram alterações inevi táveis. Agora, sim, já se pode dizer que existem maiores pos sibilidades para as profissões técnicas, sem que, todavia, devamos cair na uto pia da técnica. Mas já se nota que, em paralelo à natural afluência às Escolas de Direito, as Escolas de Engenharia estão formando tiumas numerosas. Te nho em mãos, por exemplo, uma prova bem significativa: o convite para a so lenidade da formatura dos àplomados de 1948, da Escola Nacional de Enge nharia, registra mais de 170 engenheiros! Por êsse convite, vejo que o número de
engenheiros do ano passado é surpreen dente neste "paia da bacharéis", onde ordmànamente as Escolas Politécnicas nao davam tuimas numerosas. Leio, ao mesnío temfw, n'"A Tarde", a rekçáo dos diplomados pela Escola Politécnica da Bahia, e verifico também que o numero de engenheiros é re!aH\'amente grande. Não sei se outras Escolas de Engenham tiveram aumento de matrí culas. De qualquer forma, o fato de saírem da Escola Nacional de Engenhana, de uma só vez, mais de 170 engenheiros, é um sintoma de renova ção.
Temos aí uma conseqüência da trans formação trazida pela guerra. O fenô meno da industriali zação, embora o Bra sil não seja um país industrial, não po dia deixar de influir nas preferências pro fissionais. Não basta formar engenlieiros; é indispensável criar condições para o en genheiro, eritando-se que muitos profissio nais abandonem a técnica por falta de meios. Sabe-se mui to bem qu.- -rm" capitais, sem obras, por tanto, são m. precárias as possibili dades do engenheiro. Mas o que é cer to é que estamos inaugurando uma fase nova. De acôrdo com as solicitações da vida moderna é que podemos compre ender a causa das preferências pelas profissões, tanto mais que ainda esta mos, sob muitos aspectos, no ciclo da improvisação. Como poderia, pois, o Brasil ser um país de técnicos antes'de tempo, sem condições, sem meios, sem formação técnica? Sem organização in-
Dicesto Econónoco
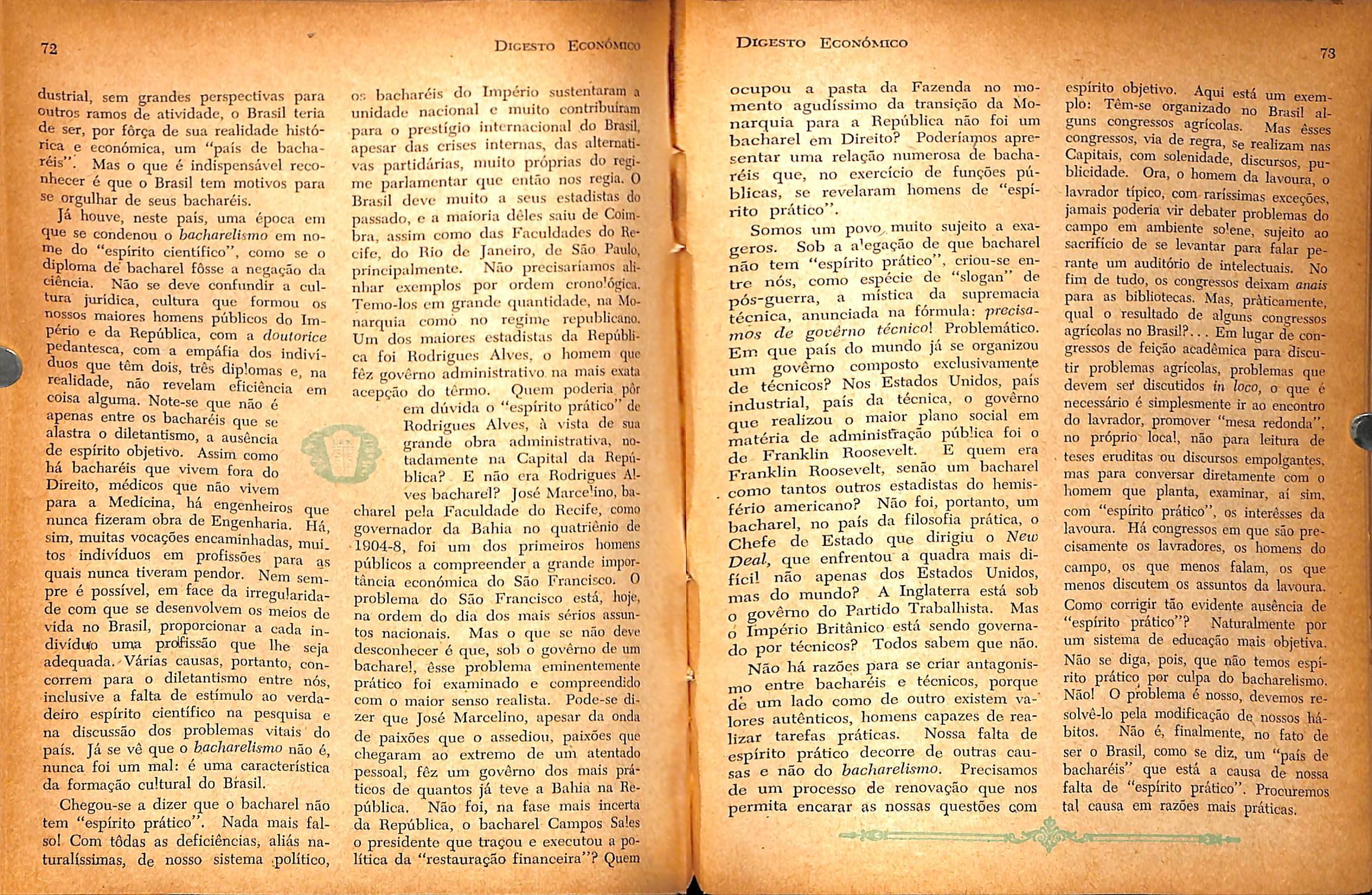
dustrial, sem grandes perspectivas para Outros ramos de alividade, o Brasil teria de ser, por fôrça de sua realidade liistórica e econômica, um "país de bacha réis". Mas o que é indispensável reco nhecer é que o Brasil tem motivos para se orgulhar de seus bacharéis.
Já houve, neste pais, uma época eni que se condenou o bacharelhmo em non^e do "espírito científico", como se o diploma de' bacharel fôsse a negação da ciôncia. Não se deve confundir a cul tura jurídica, cultura que formou os nossos maiores homens públicos do Im pério e da República, com a (hutorice pedantesca, com a empáfia dos indivíduos que tem dois, três diplomas e. na realidade, não revelam eficiência em coisa alguma. Note-se que não é apenas entre os bacharéis que sc alastra o diletantismo, a ausência de espírito objetivo. Assim como há bacharéis que vivem fora do Direito, médicos que não \dvem para a Medicina, há engenlieiros que nunca fizeram obra de Engenharia. Há sim, muitas vocações encaminhadas, muL tos indivíduos em profissões para as quais nunca tiveram pendor. Nem sem pre é possível, em face da irregularida de com que se desenvolvem cs meios de vida no Brasil, proporcionar a cada in divíduo uma prdfissão que lhe soja adequada.-Várias causas, portanto, con correm para o diletantismo entre nós, inclusive a falta de estimulo ao verda deiro espirito científico na pesquisa e na discussão dos problemas vitais do pais. Já se vê que o bacharelisnío não é, nunca foi um mal: é uma característica da formação cultural do Brasil.
Chegou-se a dizer que o bacharel não tem "espírito prático". Nada mais fal sei Com tôdas as deficiências, aliás naturalíssimas, de nosso sistema •político,
or. bacharéis do Império sustentaram a unidade nacional e muito contribuíram para o prestígio internacional do Brasil, apesar das crises inlcnias, das alternati vas partidárias, muito próprias do regi me parlamentar que então nos regia. O Brasil deve muito a seus estadistas do passado, c n maioria dèles saiu de Coim bra, assim como das Faculdades dn Re cife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, principalmente. Não precisaríamos ali nhar exemplos por ordem cronológica. Temo-l<is em grande cpiantidadc, na Monarquia coniõ no regime republicano. Um dos maiores estadistas da Repúbli ca foi Rodrigues Alves, o homem que fez governo administrnti\o na mais exata acepção do termo. Quem poderia pôr em dúvida o "espírito prático" de Rodrigues Alves, á \isla de sua grande obra administrativa, notadainente na Capital da Repú blica? E não era Rodrigues Al ves bacharel? José Marcehno, ba charel pela Faculdade do Recife, como governador da Bahia no quatriênio de 1904-8, foi um dos primeiros homens públicos a compreender a grande impor tância econômica do São Francisco. O problema do São Francisco está, hoje, na ordem do dia dos mais sérios assun tos nacionais. Mas o que sc não deve desconhecer ó que, sob o govêrno de um bacharel, esse problema eminentemente prático foi examinado e compreendido com o maior senso realista. Pode-se di zer que José Marcelino, apesar da onda de paixões que o assediou, paixões que chegaram ao extremo de uin atentado pessoal, fez um govêrno dos mais prá ticos de quantos já teve a Baliia na Re pública. Não foi, na fase mais incerta da República, o bacharel Campos Sales o presidente que traçou e executou a po lítica da "restauração financeira"? Quem
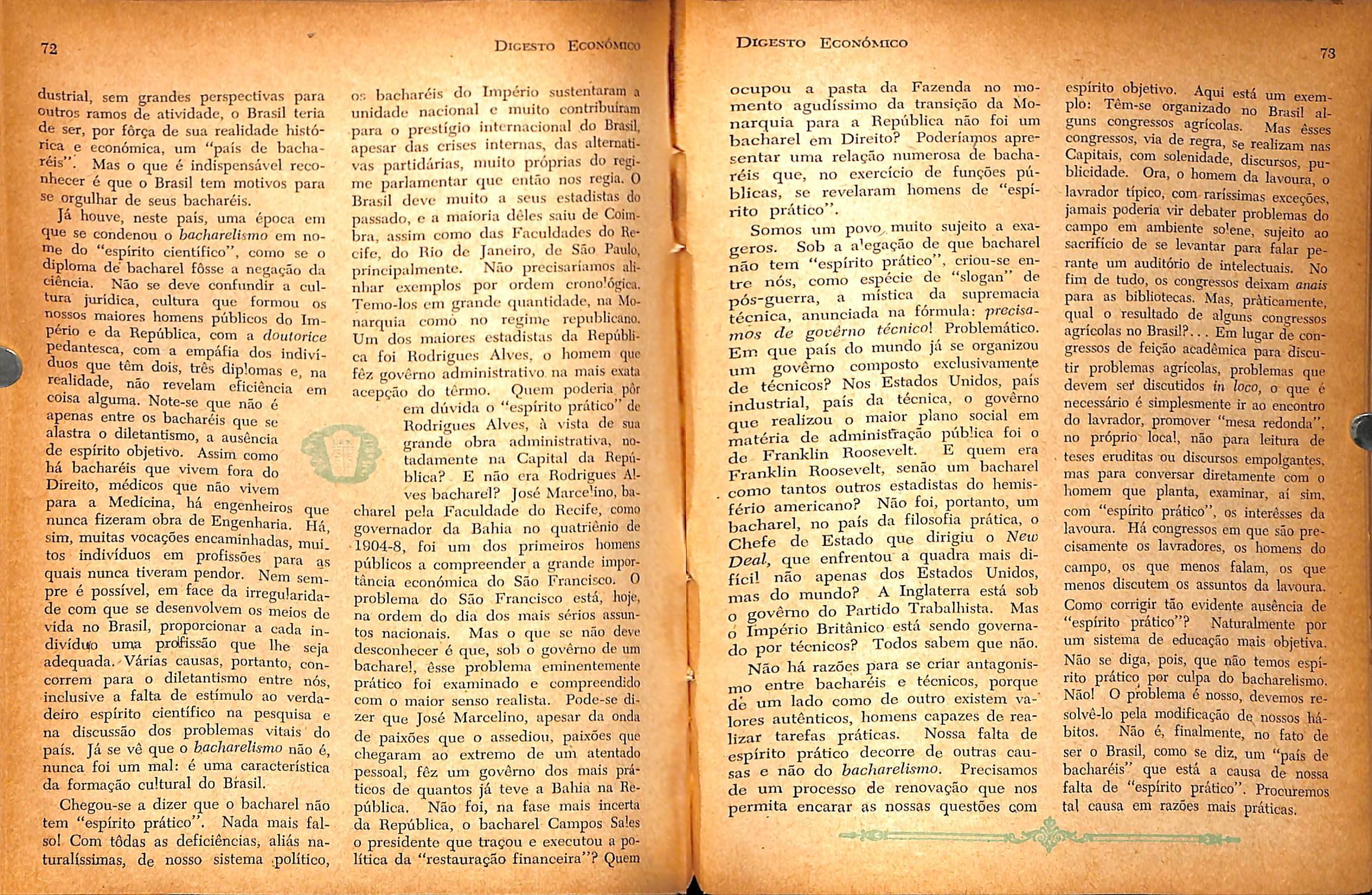
ocupou a pasta da Fazenda no mo mento agudíssimo da transição da Mo narquia para a República não foi um bacharel em Direito? Poderíamos apre sentar uma relação numerosa de bacha réis que, no exercício de funções pú blicas, se revelaram homens de "espi rito prático".
Somos um povo^ muito sujeito a exa geros. Sob a aVgação de que bacharel não tem "espírito prático", criou-se en tre nós, como espécie de "slogan" de pós-guerra, a mística da supremacia técnica, anunciada na fórmula: prochainõs de govêrno técnico! Problemátíco. Em que paí.s do mundo já se organizou um govêrno composto exclusivamente He técnicos? Nos Estados Unidos, pais industrial, país da técnica, o govêrno que realizou o maior plano social em matéria de adminisfração pública foi o de Franklin Roosevelt. E quem era Franklin Roosevelt, senão um bacharel como tantos outros estadistas do hemis fério americano? Não foi, portanto, um bacharel, no país da filosofia prática, o Chefe de Estado que dirigiu o New Deal, que enfrentou a quadra mais di fícil não apenas dos Estados Unidos, mas' do mundo? A Inglaterra está sob o governo do Partido Traballiista. Mas d Império Britânico está sendo governa do por técnicos? Todos sabem que não. Não há razões para se criar antagonisjno entre bacharéis e técnicos, porque dd um lado como de outro existem va-' lores autênticos, homens capazes de rea lizar tarefas práticas. Nossa falta de espírito prático decorre de outras cau sas e não do hacharelismü. Precisamos de um processo de renovação que nos permita encarar as nossas questões com
espírito objetivo. Aqui está um e.vempio: Tem-se organizado no Brasil al guns congressos agrícolas. Mas êsses confessos, ria de regra, se realizam nas Capitais, com solenidade, discursos pu blicidade. Ora, o homem da lavoura, o lavrador típico, com raríssimas exceções jamais poderia vir debater problemas do campo em ambiente so'ene, sujeito ao sacrifício de se levantar para falar pe rante um auditório de intelectuais. No fim de tudo, os congressos deixam anais para as bibliotecas. Mas, pràticamentc. qual o resultado de alguns congressos agrícolas no Brasil?... Era lugar de con gressos de feição acadêmica para discu tir problemas agrícolas, problemas que devem sei discutidos in loco, o que é necessário é simplesmente ir ao encontro do lavrador, promoier "mesa redonda", no próprio local, não para leitura de teses eruditas ou discursos empolgantes, mas para conversar diretamente com o homem que planta, examinar, aí sim, com "espírito prático", os interêsses da lavoura. Há congressos em que são pre cisamente os laNTadores, os homens do campo, os que menos falam, os que menos discutem os assuntos da lavoura. Como corrigir tão evidente ausência de "espirito prático"? Naturalmente por um sistema de educação mais objetiva. Não se diga, pois, que não temos espi rito práHcq por culpa do baoharelismo. Não! O problema é nosso, devemos re solvê-lo pela modificação de nossos há bitos. Não é, finalmente, no fato de ser o Brasil, como se diz, um "país de bacharéis" que está a causa de nossa falta de "espírito prático". Procuremos tal causa em razões mais práticas.

s artifícios com que me dimos o tempo dão-nos a cômoda ilusão de que êle passa, quando nós é que passamos e desapa recemos. Acontece, por ' isso, às vezes, que o es paço medido do tempo não corresponde a soma de acontecimentos, de mudanças, e transformações ocorridas: há dias c eios, que se reduzem a horas, e lon gos dias monótonos e vazios, que pare cem maiores. A convenção não alcan ça abranger o ritmo e a densidade da vida. (^ando o processo se acelera, as mutações são tão rápidas que o tem po não as pode conter, no seu caráter indeformável. Assim ocorre numa época como a que vamos vivendo. Quem não sente que, entre os momentos que pre cederam o último conflito, vamos dizer o ano de 1938, e aquêles que atravessa mos, não medeiam apenas dois lustres, mas vários decênios? O mundo de hojei na verdade, distancia-se do mundo de há dez anos por lun conteúdo que po deria ser aferído em um século. E um dos aspectos trágicos da vida atual é que não podemos restabelecer o ritmo anterior, fazer com que a vida volte a se desdobrar com aquela aparente sua vidade. Diz-se, então, que passaram os tempos em que era doce viver. A do çura de viver, na verdade, pode existir em qualquer época — e'corresponde a determinados padrões, que são extre mamente variáveis.
Do ponto de vista exclusivamente bra sileiro, o que surpreende e espanta, con
fundindo a muitos, é o paralelismo entre normas de existência ligadas a um pas sado distante, embora cronològicamcnte próximo, e uma realidade que c ine.xorável. Êsse contraste singular se espe lha, com fisionomia especial, no mundo dos negócios: a falta de estabilidade, a incerteza, a ausência de confiança, o te mor recôndito, a ânsia pela noruialidade que se não deixa entrever, desigual dades curiosas como grandes lucros ao lado de prejuízos consideráveis.
Antes do desmoronamento geral a que vamos assistindo, havia normas consuetudinárias, no mundo dos negócios, e uma delas, por exemplo, e aqui vai com o intuito exclusivo de exemplificar, era a relação existente entre o capital e os lucros. Tal relação podia existir, no passado, porque os tempos eram normais è permitiam que os lucros se repetissem, através dos anos, porque havia confian ça, o mundo marchava em ritmo suave e os negócios se faziam num ambiente de certeza, de calma, de otimismo. O que dava lustre a uma firma comercial não era pròpriamente o volume de seu movimento anual ou mensal, mas uma série de fatôres, entre os quais pesava muito a antigüidade: era moda, e tinha importância, então, escrever, de uma firma acreditada: "Fundada em.. Êsse quadro se refletia, dentro do âmbito pròpriamente comercial — que é uma das faces apenas do enorme conjunto da vida econômica — de mil e uma formas, no crédito, nas relações entre patrões e empregados, na posição das firmas, de Tun modo geral, na engrenagem dos negócios.

Hoje está tudo bastante modificado, e o quadro atual o tão conhecido que sedispensável que nos ceifássemos dele. Basta inverter cada um dos termos com que foi apresentado o de há tempos. O mundo dos negócios, eonsideràvelmente perturbado, agita-se entre ■ problemas constantes, cujas soluções são sempre de emergência, sem que se consiga vis lumbrar a etapa final desse agitado e tumultuoso processo, em que se procu ra viver o dia de hoje, sem cuidar do de amanhã, porque o amanhã não está, ao que parece, em nossas mãos. Quem po derá, em sã consciência, afirmar que no ano seguinte não haverá aumento de salários para os empregados, não haverá aumento de impostos, não haverá modi ficações em alguma das peças do me canismo das trocas? E' evidente que, hoje, quando o patrão paga os salários aumentados, está apenas pensando por quanto tempo terá transferido o pro blema de novo aumento; quando paga os novos impostos, que o obrigam a au mentar os preços, está apenas fazendo por esquecer que êsses impostos cres cerão ainda de uma forma que tornará impossível o pequeno comércio e a pe quena indústria, e que vai solapando o próprio artesanato; quando toma co nhecimento de interdições, proibições ou franquias comerciais, está pensando até quando tais medidas permanecerão em vigor, e quais as que virão substituir as que apareceram.
Tudo isso não acontece por culpa dos homens, entretanto. Acontece porque mudamos, e mudamos muito num peque no espaço de tempo. Acontece porque o Brasil de 1938 é bem diverso do Brasil que enfrenta o ano de 1949. Em 1938, tôda a estrutura econômica estava amea çada, sem dúvida, mas os estudiosos sa biam (jue ela iria atravessar os seus mo
mentos mais difíceis. Os participantes — por estarem absorvidos em seus pro blemas próprios, sem ver o conjunto, e' pela esperança em que o espectro da guerra fôsse afastado, à última hora, talvez à custa de outra Munich — não sentiam a aproximação de condições de vida inteiramente diversas.
Essas condições surgiram da guerra, como fase preparatória. O interregno dos anos em que as condições em que se .processaram as trocas foram de todo es peciais e particulares, sem qualquer se melhança com condições de épocas nor mais e pacíficas, apenas serviu para dis farçar,a realidade da transformação que se estava operando. E' conhecido o fe nômeno, se é que a palavTa não é de masiado forte para o fato, de uma vela de cera: ela dá uma luz mais forte, an tes que Se apague. O desenvolvimento da economia brasileira teve, nos anos de guerra, aquele bruxoleio animador mas era uma fase de transição, que en ganou a muitos e que escondeu a ou tros os.traços do que estava por vir.
Que vimos, durante os anos do con flito, realmente? Em primeiro lugar, a perda dos mercados europeus para pro dutos, como o café, de grande importân cia em nosso movimento extemo. A praça de Hamburgo, a segunda do mun do para o nosso café, ficava riscada. As condições de guerra, por outro lado, passavam a impor, por parte dos paí ses europeus que ainda podiam comer ciar conosco, através do sistema de mvicerts, alterações substanciais em seus pedidos e em seus fornecimentos. Pe diam-nos, agora, matérias-primas de interêsse militar, em primeira urgência, ao mesmo passo que se recusavam a nos fornecer o que era habitual quê nos fornecessem, máquinas e produtos aca bados. A subversão era completa por-
que, por um processo artificial e brusco, mudava-se a fisionomia de um tráfico que se mantivcra normal através de al guns lustres, inclusive durante o primei ro conflito mundial, quando o domínio marítimo exercido pelos britânicos con seguiu assegurar, apesar da alta de fre tes, relações comerciais intensas entre o velho continente e o nosso. Essa sub versão se manifestava, pois, de forma bilateral: nem os países europeus nos queriam comprar o que habitualmente nos compravam, pelo menos no volume e valor anteriores ao conflito, nem nos queriam vender o que habitualmente nos vendiam. De um modo geral, a ten dência do comércio do Brasil com os países europeus, com os quais foi po.ssível continuar a trocar produtos ou va lores, foi a que resultou na formação dos congelados — resultantes de saldos acumulados durante um período em que os países europeus, em particular a In glaterra, estavam entregues à produção de guerra, consumindo as mercadorias que importavam.
Internamente, enquanto íamos redu zindo a taxa de investimentos, sofríamos uma alteração subs tancial na estrutura econômica r/""--'' — alteração tão importante e'' tão profunda que faz diferenciar nitidamente o quadro '. atual daquele de há um decê- ' , nío. A ilusão proporcionada • ' pelo rápido enriquecimento de alguns círculos produtores, com produção ace lerada pela. procura ascensional e des medida e pela alta contínua dos preços, escondeu, durante o período em que a transformação se processava, mes mo aos mais atentos observadores, to do o alcance da modificação estrutural a que rios referimos. Apenas o declí nio acentuado da produção agrícola, o h
êxodo da.s populaçõc.s rurais e a infla ção monetária, deixaram surpreendidos os que SC inlcressaxani pelo problema econômico. Mas, ainda assim, raramente tais aspectos foram relacionados com o íjuadro de <onjmito de uma alteração de que acjiiéles fenômenos eram apenas cünse({üéneias parciais.
Durante o conflito militar, desde mes mo antes clc uma participação direta do nos.so país, o extraordinário esforço do aparelbamcnto produtor, particularmen- ^ tc da indúslTÍa, conduziu a um desgaste considerável. A aceleração no ritmo pro dutor, a constante solicitação dos mer cados, tanto interno como externo, a possibilidade de .ascensão acentuada de preços, a ilusão dos grandes lucros e da visão do um volume e de um valor que atingiam níveis jamais alcançados, ofuscarajn a observação e fizeram com que todos afastassem de si as preocupações de um futuro que teria de se aproximar e que encontraria graves e alastrados problemas, para a solução dos quais nem estaríamos aparelhados, nem prevíramos medida alguma. A \ertigem produtora, de um lado, e as inevitáveis . " restrições â importação — de ycz que os nossos habituais fornecedores não nos podiam
satisfazer as necessidades nor- V;- mais, quanto mais as que se ligavam ao esforço inaudito ^ue vínhamos desenvolven do — encontraram correspondência om saldos externos vultosos. Várias vezes os órgãos responsáveis encararam a ulili^^. ção posterior daqueles saldos e tenta, ram acordos que lhes dessem uma fn^. ção conveniente, no quadro novo teria de surgir, quando o mundo voltas se à normalidade.
Uma circunstância, porém, ficou qua-
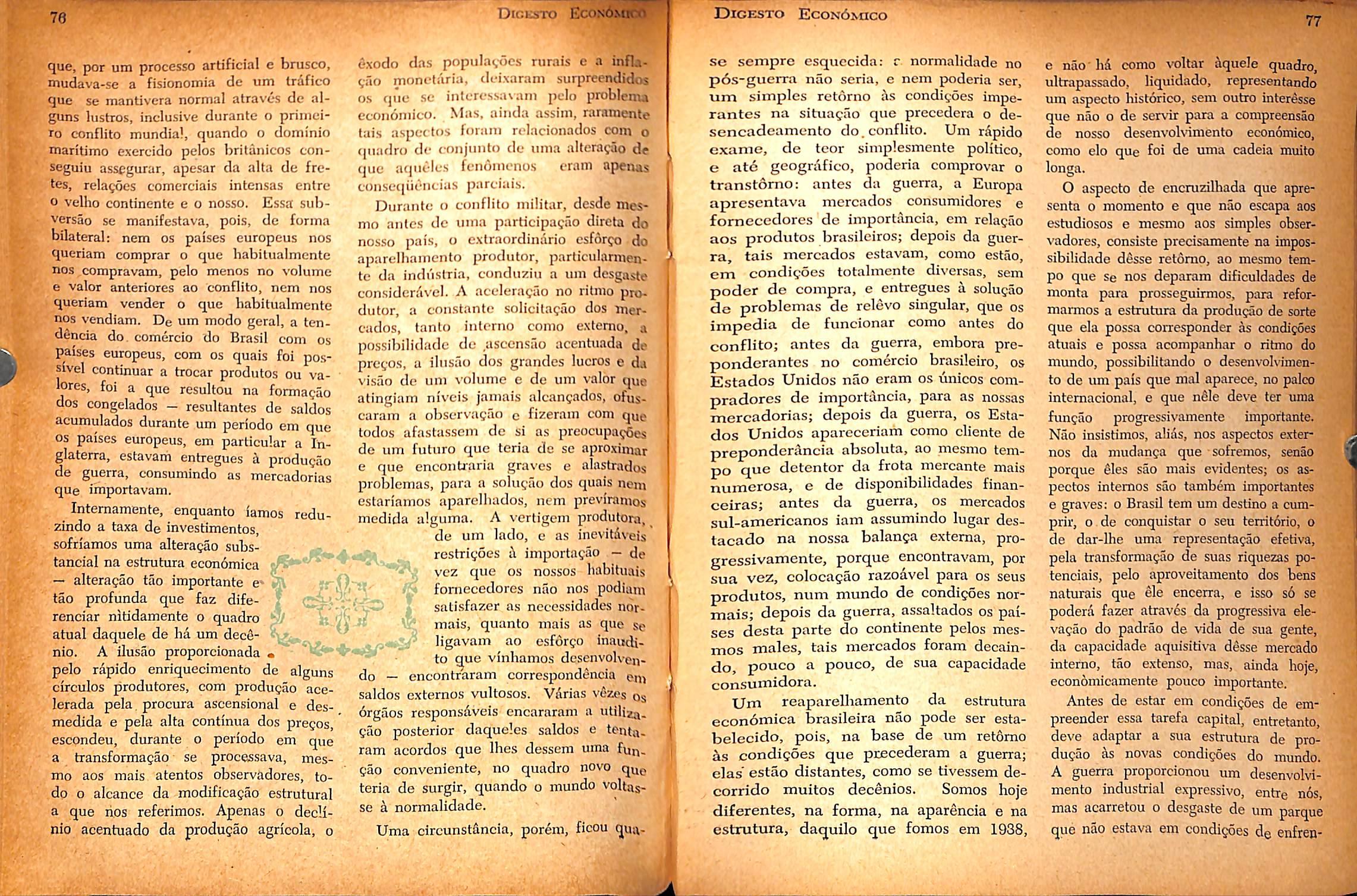
^ se sempre esquecida: r normalidade no pós-guerra não seria, e nem poderia ser, um simples retorno ás condições imperantes na situação que precedera o desencadeamento do.conflito. Um rápido exame, de teor simplesmente político, e até geográfico, poderia comprovar o transtorno: antes da guerra, a Europa apresentava mercados consumidores e fornecedores de importância, em relação aos produtos brasileiros; depois da guer ra, tais mercados estavam, como estão, em condições totalmente diversas, sem poder de compra, e entregues à solução de problemas de relevo singular, que os impedia de funcionar como antes do conflito; antes da guerra, embora pre ponderantes no comércio brasileiro, os Estados Unidos não eram os únicos com pradores de importância, para as nossas mercadorias; depois da guerra, os Esta dos Unidos apareceriam como cliente de preponderância absoluta, ao mesmo tem po que detentor da frota mercante mais numerosa, e de disponibilidades finan ceiras; antes da guerra, os mercados sul-americanos iam assumindo lugar des tacado na nossa balança externa, pro gressivamente, porque encontravam, por sua vez, colocação razoável para os seus produtos, num mundo de condições nor mais; depois da guerra, assaltados cs paí ses desta parte do continente pelos mes mos males, tais mercados foram decain do, pouco a pouco, de sua capacidade consumidora.
Um reaparelliamento da estrutura econômica brasileira não pode ser esta belecido, pois, na base de um retômo às condições que precederam a guerra; elas' estão distantes, como se tivessem de corrido muitos decênios. Somos hoje diferentes, na forma, na aparência e na estrutura, daquilo que fomos em 1938,
e não" há como voltar àquele quadro, ultrapassado, liquidado, representando um aspecto histórico, sem outro interesse que não o de servir para a compreensão de nosso desenvohãmento econômico, como elo que foi de uma cadeia muito longa.
O aspecto de encruzilhada que apre senta o momento e que não escapa aos estudiosos e mesmo aos simples obser vadores, consiste precisamente na impos sibilidade dêsse retômo, ao mesmo tem po que Se nos deparam dificuldades de monta para prosseguirmos, para reformamios a estrutura da produção de sorte que ela possa corresponder às condições atuais e possa acompanhar o ritmo do mundo, possibilitando o desenvolvimen to de um país que mal aparece, no palco internacional, e que nêle deve ter uma função progressivamente importante. Não insistimos, aliás, nos aspectos exter nos da mudança que sofremos, senão porque êles são mais evidentes; os as pectos internos são também importantes 8 graves: o Brasil tem um destino a cum prir, o de conquistar o seu território, o de dar-lhe uma representação efetiva, pela transformação de suas riquezas po tenciais, pelo aproveitamento dos bens naturais que ele encerra, e isso só se poderá fazer através da progressiva ele vação do padrão de xuda de sua gente, da capacidade aquisitiva dêsse mercado interno, tão extenso, mas, ainda hoje, econòmicamente pouco importante.
Antes de estar em condições de em preender essa tarefa capital, entretanto, deve adaptar a sua estrutura de pro dução às novas condições do mundo. A guerra proporcionou um desenvolvi mento industrial expressivo, entre nós, mas acarretou o desgaste de um parque que não estava em condições de enfren-
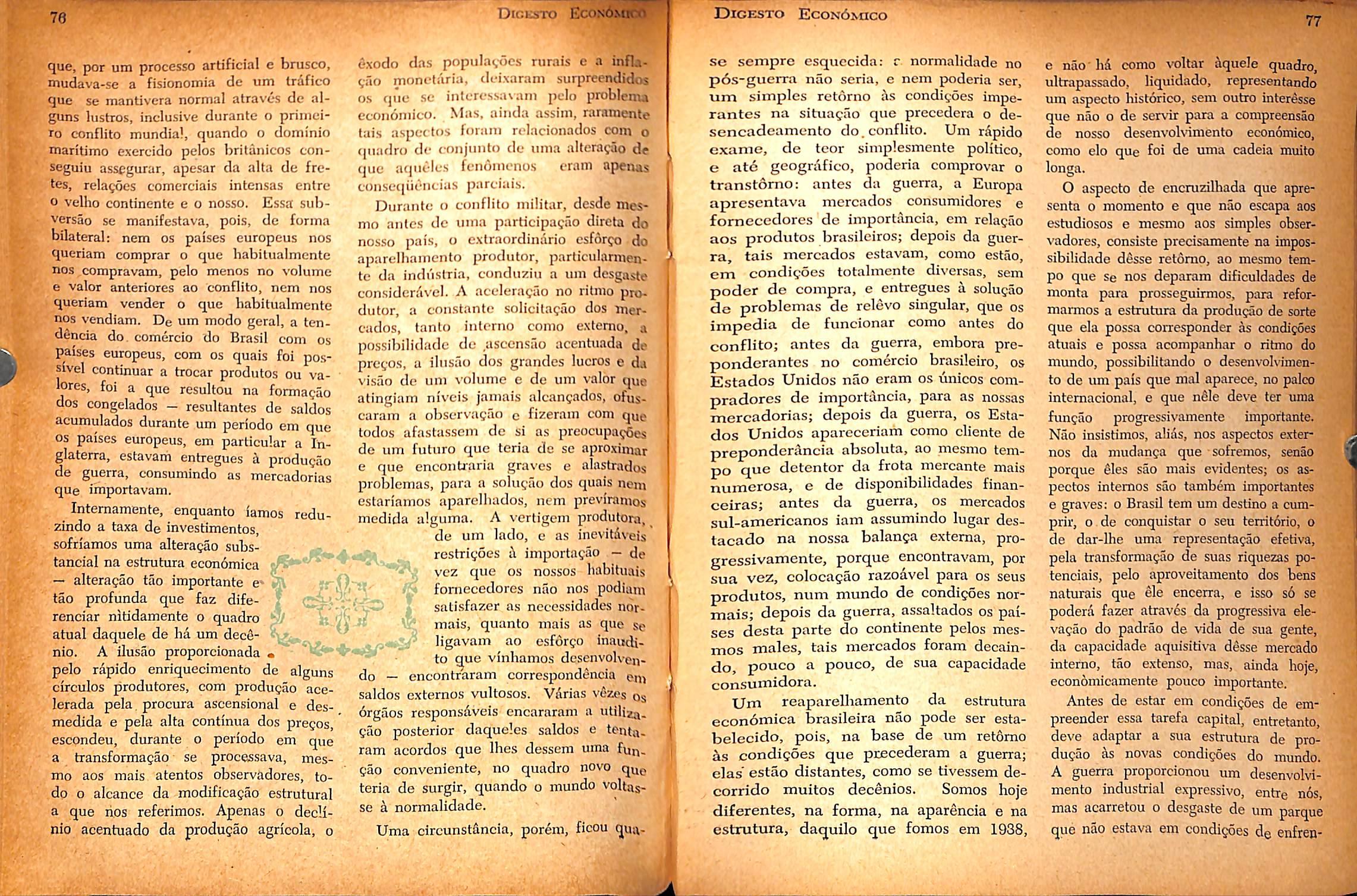
tá-lo. Por outro lado, em conseqüência daquele impulso industrial inaudito, pro duziu-se uma estabilização da produção agrícola que tende, agora, no pós-guerra, para uma regressão perigosa. Perdemos O caráter eminentemente agrícola e des gastamos o capital e o aparelhamento material, não só o da indústria, propria mente, mas o de transportes, quer terres-, tres, quer marítimos. Tendo assistido a uma parada no ritmo de desenvolvimen to da agricultura, cujo desaparelhamento está em contraste com as exigências do próprio mercado interno e das pró prias condições da produçáe, enganamonos com o vertiginoso surto industrial. Hoje, à pausa agrícola soma-se o desa-

parelhamcnlo industrial c, coroando tudo, está a redução na taxa de investimentos. Em que consiste a encruzilhada? Em regredirmos às condições anteriores à guerra, isto é, cm nos tornarmos essen cialmente agrícolas, isto é, coloniais e pobres, ou em nos aparelharmos para acompanhar o desenvolvimento mundial, conquistando o mercado interno e fa zendo do Brasil uma nação digna de sua grandeza potencial. Em economia, ra ramente as coisas se apresentam com o aspecto de dilema. O nosso caso, po rém, ó uma dessas exceções: ou nos or ganizamos, ou perecemos, como po\-o digno de importância.
Nactorwí do Comércio Exterior, dos Estados Unidos, niibiicou
n o A sôbre o problema da escassez de dólares na América La- n ,s gu 0 0 qual, se os países em questão adotarem uma atitude mais concilia^ coin o capital part^ular norte-americano, serão reduzidas as suas difi. cuíd^es cambiais, o que também contribuirá para o desenvolvimento econômico da regtao.
O mencionado relatório afirma que os países beneficiados pelas compras dá Admmts^açao da Cooperação Econômica, com exceção do Chile, não são os quo sofrem da escí^sez de dólares mais aguda, quais sejam, a Argentina, Bolívia, Pcni ^ ^ ^^lorizações de compras no Brasil, as quais atingiam a US$ 19.000.000 até 15 de novembro de 1948, foram "insuficientes para melhorar a posição cambial do pais . Os efeitos do Plano Marshall, diz o relatório, fdraut menos visíveis do que se esperava. Afirmando que continua intensa a procura de mercadorias dos Estados Unidos na América Latina, o relatório assegura que dssq interêsse depende do incremento das importações de mercadorias latino-americanas pelos Estados Uriidos, dos investimentos de capital particular e das compras do Plano Marshall nos países do sul. Os exportadores latino-americanos de mercadorias jwi. márias, adverte o relatório, enfrentarão êste ano uma concorrência crescente das outras regiões do globo.
Atummente, os recursos cambiais da América Latina são inferiores em cêrca de $ 2.000.000.000 ao ntvel máximo do após-guerra. Com exclusão do México, os recursos em ouro e divisas estrangeiras atingiam a § 2.700.000.000 e os debiteis a $ 500.000.000, em fins de agosto de 1948. No final de outubro passado, as obrigações da Argentina para com os Estados Unidos atingiam a $ 325.000.000. ao passo que a dívma brasileira era de § 200.000.000. Embora se verifique uma redução lenta no total de saques não cobertos, relativos a exportações norte-americanas para a América Latina, se continuar o ritmo atual dos pagamentos, serão necessários vá rios anos para a liquidação dos débitos comerciais dos países latino-americanos.

Um cios nossos mais probos críticos de idéia.s afirmou que José Bonifácio se impressionara em política, como a rnaioria dos seus contemporâneos, "mais pelo lado meramente exterior dos acon tecimentos". A demonstração do contrá rio isto é, de que José Bonifácio consi derou menos o aspecto cxtcnio dos fa tos do qne a sua significação íntima e profunda, ressalta do exame mais demo rado da participação que teve nos su cessos políticos entre 1821 e 1833 e da leitiua de trabalhos como a representa ção à Assembléia Constituinte sôbre a escravatura, os apontamentos para a ci vilização dos índios e o manifesto de 6 dc agôsto de 1822 às naç^ões amigas.
Bastante diferente de muitos dos seus contemporâneos, não se ateve a exterioridades, não se subordinou a figurinos políticos, não se deixou enlear por pa lavras. Díií ° esfôrço para incutir em D. Pedro a noção do papel que devia representar, as suas idéias em favor de um governo que tivesse au toridade e não se reduzisse a simples sombra de poder, o seu monarquismo ortopédíco para consolidar a unidade do Brasil os conflitos e choques com os patriotas do Rio — Gonçalves Ledo,
Tose Ccmente, Januário — estes, sim, muito mais impressionados com o lado exterior dos sucessos, com os pregões do liberalismo europeu, com a moda, a for ma, a estética das coisas políticas.
Nas lutas da Independência, ninguém teve uma visão mais penetrante dos acontecimentos. O ponto capital, a seu parecer, era impedir a desagregação do Brasil, manter coesas as províncias, dar
remate à obra que fatores diversos, de natureza econômica e social, vinham ela borando. Nenhum instrumento, lhe pa receu melhor do que o próprio prínci pe regente para encabeçar mn governo centralizador no Rio de Janeiro, que se opusesse à ação dissociadora das Côrtes de Lisboa.
Tão pouco adstrito, em política, ao lado exterior dos acontecimentos, foi José Bonifácio que, tendo plantado, como assc\erou, a monarquia no Brasil, não se moveu senão por considerações práticas, de oportunidade, imediatistas, e. diante do monarca, em meio de uma Còrte improvisada, continuou apenas um cidadão, uma figura tão humana na sim plicidade de sua rida como qualquer dos grandes líderes da independência norte-americana — recusando, quase co mo quem repele uma alcunha depri mente, o título de marquês, e rejeitan do a grã-cfuz da Ordem do Cruzeiro, como quem teme o ridículo de possuíla, quanto mais de ostentá-la.
A prova de que José Bonifácio não se contentava em política apenas com o lado exterior dos sucessos está na po sição singular em que se colocou comparadamente com a de seus contemporâ neos. Chegando ao Brasil depois de trin ta e seis anos de ausência, veio encon trar a antiga colônia elevada à cate goria de reino, sede da monarquia por tuguesa 6 possuindo já todo o apare lhamento dos serviços públicos indispen sáveis — secretarias, tribunais, reparti ções, estabelecimentos de ensino. Era a fachada de um novo Estado qae se construíra, uma rida nova que se de-

senvolvera ao impulso das medidas de ordem econômica tomadas por D. João — a abertura dos portos brasileiros ao comércio universal, a revogação do alva rá de 5 de janeiro de 1785, que proi bira indústrias no Brasil, etc. Não tardou, com as repercussões da revoluç<ão do Pôrto de 1820, a erupção entre nós de um movimento emancipador e separatis ta que culminou -na proclamação de 7 de setembro de 1822. As idéias liberais em voga animaram êsse movimento. A li berdade, todas as liberdades foram de cantadas. D. Pedro declarava aos mi neiros: "vós amais a liberdade, eu ado ro-a . Os mais ardentes patriotas cla mavam por uma Constituição que havena de conter, sem faltar um só, todos os direitos do ho mem, numa edição, se possível, correta e aumentada. . Para cs revolucionários mais * sinceros isso era o suficiente. Tivesse o Brasil uma consti tuição liberal, e tudo estaria ' ;',i resolvido. José Bonifácio, in- "' . contestàvelmente homem do seu tempo, detestava o despotismo, que ria também uma Constituição para o seu país. Mas não achava que só isso fosse necessário, nem acreditava que as sim se resolvessem os problemas brasi leiros. Estava de acôrdo em que se estabelecesse um governo democrático, garantias constitucionais, sistema repre sentativo. Não lhe bastava, entretanto, a organização política copiada do me lhor modêlo inglês, francês ou norteamericano: via a necessidade de uma reforma de estrutura, de um novo regi me de propriedade e de trabalho, de profundas alterações de natureza social e econômica. E enquanto todos ou quase todos os dirigentes do momento, eni ver dade impressionados de preferência pelo
lado meramente exterior dos aconteci mentos, julgavam possível, viável, natu ral, a criação de um Império conslitucio. nal, sem adotar nenhuma medida quanto í\ escravidão, José Bonifácio para logo se convenceu de que era essa a grande questão a enfrentar. A representação à Assembléia Constituinte sôbre a proibição do tráfico dos negros e a emancipação dos escravos c um documento de 1823, escrito no tumulto dos dias inquietos que se seguiram à declaração da Inde pendência, mas em que se sentem o vigor, a segurança, a madureza de idéias do há muito assimiladas.
Idéias quo e.sposara ainda quando es tudante em Coimbra e que á contem plação.do espetáculo da soc i e d a d e brasileira, por ocasião da volta à pátria, mais se tinham fortalecido. '' Idéias que eram suas e de seus irmãos, e que lhes com pensam êrros e desvarios por ventura cometidos. Antes da representação à Assembléia Constituinte, José Bonifácio, mal chegado ao Brasil, na viagem mineralógica de jpouco mais de cinco se manas que fôz pelo território de São Paulo, em companhia de Martim Fran cisco, nos comêços de 1820, tivera en sejo de tomar contato com as misérias da sociedade escravocrata. Em Itu pre parava-se irma expedição para ir com prar índios Caíapós nas margens do Pa raná, e os dois mineralogistas itínerantes não contiveram a sua repulsa: "a sorte daqueles índios, assim como a dos Guarapuavas, no distrito de Curitiba, merece tôda a nossa atenção, para que não ajuntemos ao tráfico vergonhoso e desumano dos desgraçados filhos da África, o ainda mais horrível dos infe lizes índios de quem usurpamos as ler-

ras..." Alíá.s, Martim Francisco, na memória acerca do outra viagem cien tífica feita cm 1803, escrita provàve!mentc logo depois, admirava-se dos cas tigos c maus tratos infligidos pelos se nhores à "desgraçada raça africana", e concluía: "não basta a injustiça de um tráfico tão vergonhoso para a humanida de, ainda aumentamos nossos crimes pa gando tão mal os seus serviços; mas a natureza, que nada deixa sem recompen. sa, em prêmio de nossos furore.s... faz grassar em nosso país moléstias endê micas na África c deteriora costumes pe la comunicação com êles, pois no seio da escravidão só podem germinar en xames de vícios e baLxezas".
Seria um estudo interessante o que examinas.se mais particiêarmeute a posi ção dos Andradas da Independência em face da escravidão — o que fizeram ou tentaram fazer — e as conseqüências sofreram em sua vida e carreira ^^20 gOirCiiilIl clii duti > cciilCllti política por terem assumido essa posi ção. Joaquim Nabuco, que sugeriu o tema, (O Abolicionismo, pág. 56, nota) em relação apenas a José Bonifácio, adianta que talvez quem empreender o estudo venha a descobrir que as idéias conhecidas do estadista que "planejou o realizou a Independência" explicam em boa parte o ostracismo a que se viu condenado.
Seja como for, a verdade é que, não se cingíndo ao lado exterior dos aconte cimentos, mas fazendo obra de refoiTnador social, josé Bonifácio pretendeu acabar com o tráfico africano e com a escravidão, ao iniciar o Brasil a sua exis tência de nação independente. "Como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um pais continuamen te habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos?" — pergun tava êle aos deputados reunidos na As
sembléia Constituinte. E dava ao seu apôlo a ênfase de um moralista: "come cemos, pois, desde já, esta obra pela c.xpiação de nossos crimes e pecados velhos". Dos negros que chegavam aos nossos portos abafados no porão dos na vios e "mais apinhados do que fardos do fazenda", o mais ilustre dos Andra das se sentia cristãmente irmão, vendo nêles seus semelhantes: "se os negros são homens como nós e não formam es pécie de brutos animais, se sentem e pensam como nós.. Mas não o mspiravam apenas sentimentos generosos no combate que sustentava contra a escra vidão: razões de estadista, de sociólo go, de economista o amparavam, e to das se conjugam nessa representação em que, num estilo muitas vêzes defeituoso, desigual, de gosto incerto, palpita uma nobre e quente vibração humana, um alto, um justo e equilibrado pensamen to. Todos os males econômicos, sociais, políticos e morais do regime do traballio servil, José Bonifácio expôs e conde nou. Não o souberam, melhor, não o quiseram ouvir os dirigentes da classe que dominava e continúaria a dominar o Brasil no século XIX — os senhores de engenho e fazendeiros empenhados na exploração dos seus latifúndios. O que lhes propunha a representação pa recia-lhes prejudicial, louco, revolucio nário. Mais encarniçados do que êles, em combater e inutilizar a ação do mi nistro da Independência, seriam os tra ficantes de escravos, todo um bando po deroso de ricos comerciantes portuguêse.s, "negreiros" implacáveis na sua ga nância. E o trixfico, "o infame tráfi co da escravatiua africana", só teve fim nos primeiros anos da década de 1850, depois de humilhantes intervenções por ""parte do Governo Britânico, continuando o trabalho servil entre nós até 1888.
M dos últimos relató rios da "Food and Agriculture Organization of the Unitcd Nations", salientando a ne cessidade de aumentar a produção cerealífera do mundo, trazia o seguinte quadro:
Consumo de ceFaises reais "per capita" e por ano rém' ■;;;;;;;;;;;; i®!
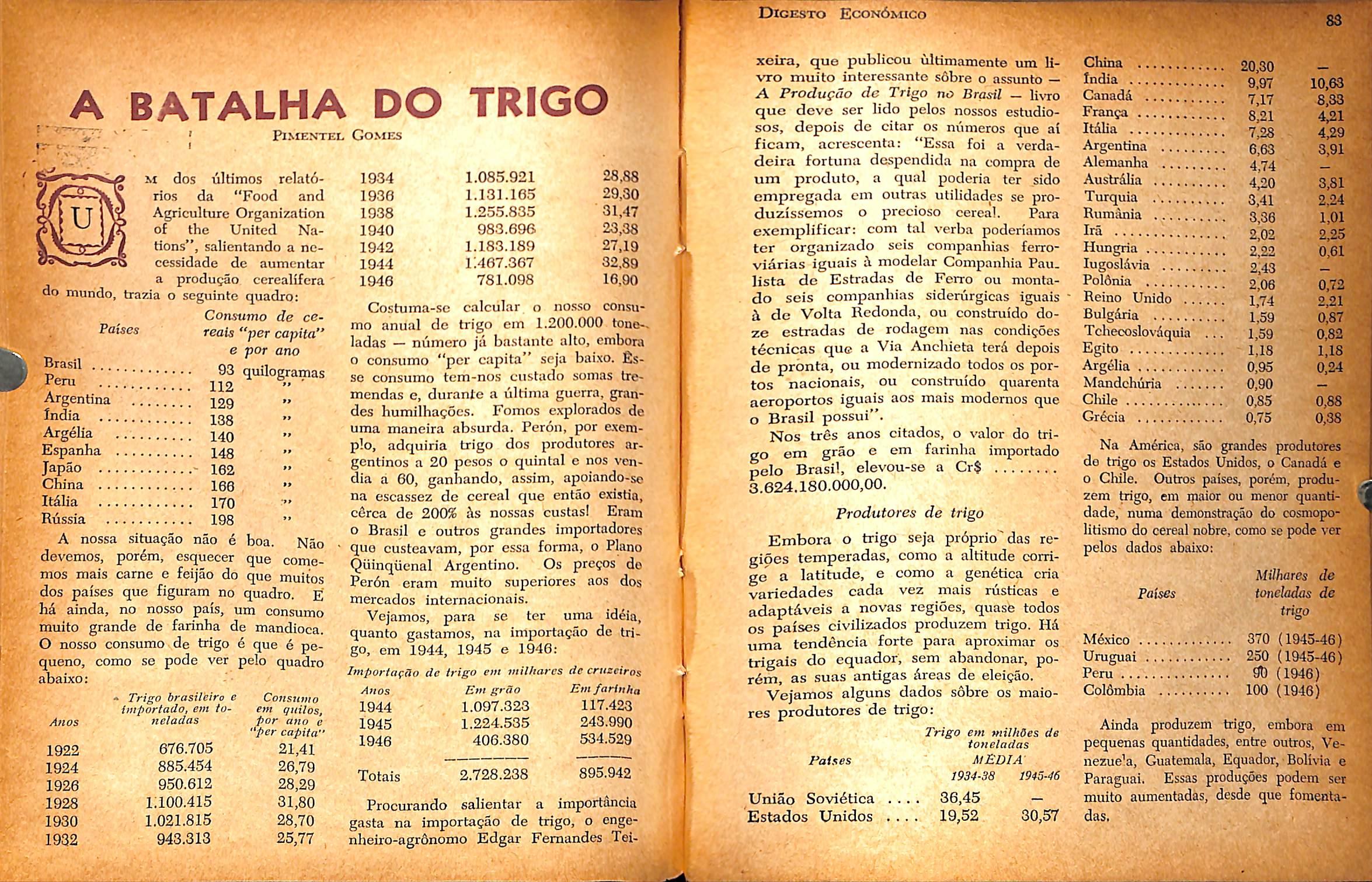
A nossa situação não é boa. Não devemos, porém, esquecer que come mos mais carne e feijão do que muitos dos países que figuram no quadro. E há ainda, no nosso país, um consumo muito grande de farinha de mandioca. O nosso consumo de trigo é que é pe queno, como se pode ver pelo quadro abaixo;
Trigo brasileiro e Cottstitiio importado, em to- em quilos. Anos neladas por ano c "Per capita"
Costuma-sc calcular o nosso consu mo anual de trigo em 1.200.000 tone-, ladas — número já ba.slantc alto, embora o consumo "per capita" seja bai.NO. Êsse consumo tem-nos custado somas tre mendas e, durante a última guerra, gran des humilhações. Fomos e.xplorados de uma maneira absurda. Perón, por e.Templo, adquiria trigo dos produtores ar gentinos a 20 pesos o quintal e nos ven dia a 60, ganhando, assim, apoiando-so na escassez de cereal que então exisHa, cêrca de 200% às nossas custas! Eram o Brasil e outros grandes importadores quo custeavam, por essa forma, o Plano Qüinqüenal Argentino. Os preços do Perón eram muito superiores aos dos mercados internacionais.
Vejamos, para se ter uma idéia, quanto gastamos, na importação de tri go, em 1944, 1945 e 1940; Importaçdo àc trigo em milhares dc crueciros Anos Em grão Em farinha
Procurando salientar a importância gasta na importação de trigo, o engenheiro-agrônomo Edgar Fernandes Tei-
xeira, que publicou ultimamente li vro muito interessante sôbre o assunto A Produção dc Trigo no Brasil — livro que deve ser lido pelos nossos estudio sos, depois dc citar cs números que aí ficam, acrescenta: "Essa foi a verda deira fortuna despendida na compra de um produto, a qual poderia ter sido empregada cm outras utilidades se pro duzíssemos o precioso cereal. Para exemplificar: com tal verba poderíamos ter organizado seis companhias ferro viárias iguais à modelar Companhia Pau. lista de Estradas de Ferro ou monta do seis companhias siderúrgicas iguais à de Volta Redonda, ou construído do ze estradas de rodagem nas condições técnicas qu© a Via Anchieta terá depois de pronta, ou modernizado todos os por tos nacionais, ou construído quarenta aeroportos iguais aos mais modernos que o Brasil possui".
Nos três anos citados, o valor do tri go em grão e em farinha importado pelo Brasil, elevou-se a Cr$ 3.024.180.000,00.
Produtores de trigo
Embora o trigo seja próprio"das re giões temperadas, como a altitude corri ge a latitude, e como a genética cria variedades cada vez mais rústicas e adaptáveis a novas regiões, quase todos os países civilizados produzem trigo. Há uma tendência forte para aproximar os trigais do equador, sem abandonar, po rém, as suas antigas áreas de eleição. Vejamos alguns dados sôbre os maio res produtores de trigo: Trigo em milhões de toneladas
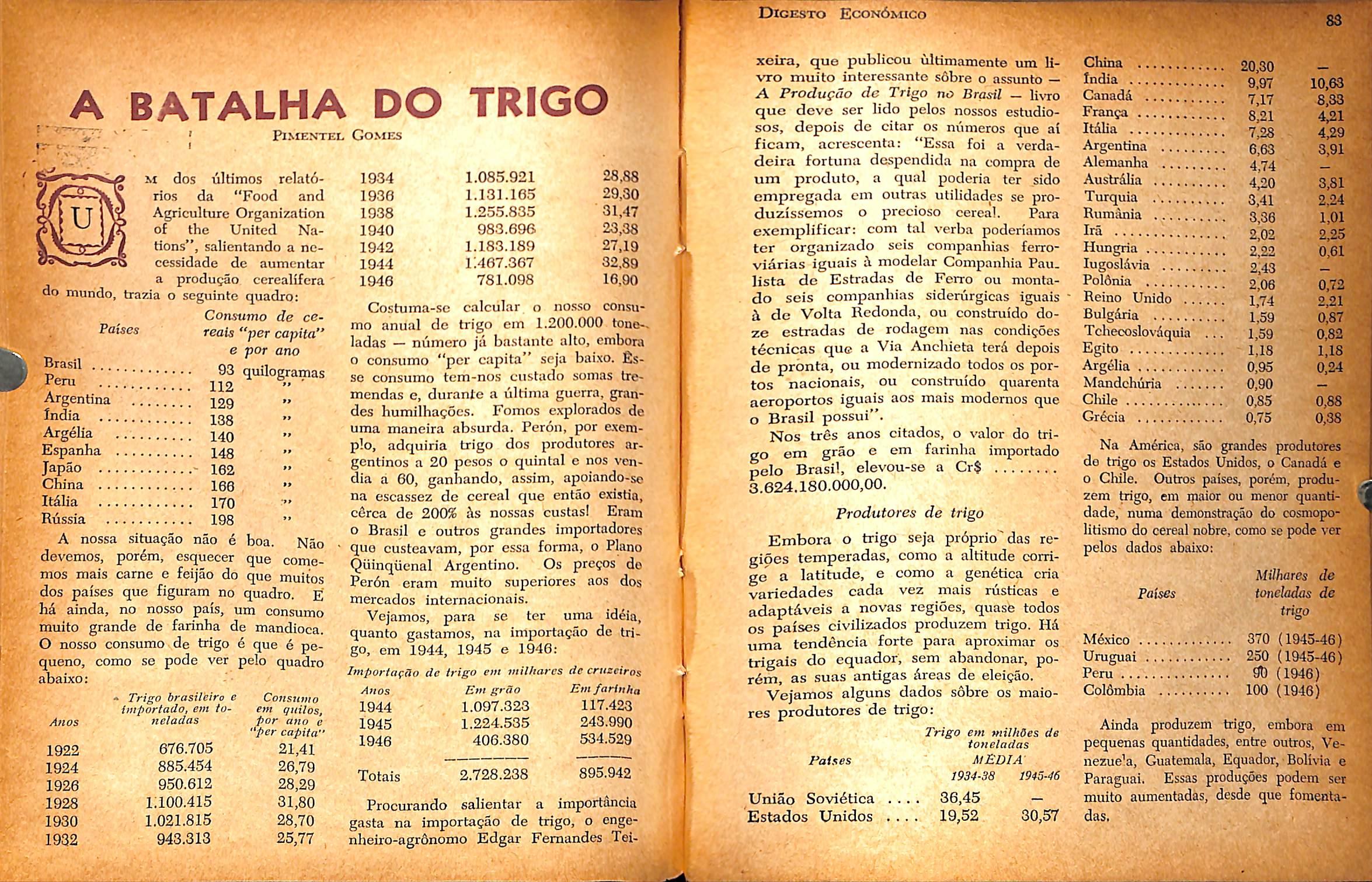
Na América, são grandes produtores de trigo os Estados Unidos, o Canadá e o Clüle. Outros países, porém, produ zem Wgo, em maior ou menor quanti dade, numa demonstração do cosmopolltismo do cereal nobre, como se pode ver pelos dados abaixo:
Milhares de Países toneladas de trigo
México 370 (1945-46) Uruguai 230 (1945-46)
Peru 9t) (1946)
Colômbia 100 (1946)
Ainda produzem trigo, embora em pequenas quantidades, entre outros, Ve nezuela, Guatemala, Equador, Bolívia e Paraguai. Essas produções podem ser muito aumentadas, desde que fomenta das.
Como ponto de referencia, para me^or se aquilatar das possibilidades tríticolas do países tropicais como a índia, o México, a Colômbia, o Brasil etc., con. Vem não esquecer que um país de cliíJia temperado e densamente povoado, como Portugal, produziu, em 1946-47, 290.000 toneladas de trigo. Conservemos êste número como ponto de referencia.
O trigo no Brasil
O Brasil, todo o mundo sabe, já foi exportador de trigo. A ferrugem, a falta de boas sementes, de maquinaria, de moinhos, de armazéns, dc transportes, de fomento, e a existência de outras cul turas tidas como mais rendosas, reduzi ram as lavouras e tomaram-nos um dos maiores importadores de trigo de todos os continentes. Chegou-se a pensar que o Brasil não tinha possibilidades de pro duzir trigo para o seu consumo. Esque cia-se que, apesar dos pesares, embora o pessimismo oficial e'a má vontade dos moageiros para o cereal brasileiro, nun ca deixamos de produzir trigo em quan tidades suficientes para demonstrar pràticamente a sua possibilidade no nosso país. E essa produção não se restringia ao Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde sempre tiveram trigais numerosos, embora pequenos. Minas Gerais manteve trigais em duas zonas: Patos, onde as terras de origem vulcâni ca são de uma fertilidade excepcional, podendo ser consideradas extraordinàriamente ricas, e Montes Claros, no norte do Estado, em áreas também de grande fertilidade. Os trigais da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a.turas do parale lo 14 sãOj também, tradicionais. São' Io 14 também, iraaicionais. Sao Paulo'manteve pequeninas lavouras. E a Bahia se conservou, durante muito t-po como produtora de trigo brasilt Pernambuco já produziu quantidades ex-
pcrimcnlalmenlo apreciáveis de trigo em sua zona inontanbo.sa. Na Paraíba, plan tei trigo nos municípios de Campina Grande, Esperança e Areia — 520 a 700 metros dc altura — e tive trigais sadios o produções razoáveis. Ültimamente, co mo se e.slá dando ao trigo os cuidados que merece, as safras estão subindo, co mo se pode ver pelos dados abai.\o:

A safra que está sendo colliida, es pera-se que ultrapasse o meio milhão de toneladas. Se mantij/ennos a mesma política, se resistirmos ao "dumping" com que a Argentina nos ameaça atra vés das fronteiras no Rio Uruguai, se continuarmos a dar aos triticultores o amparo do que necessitam, em 1951 talvez estejamos produzindo mais de um milhão de toneladas de trigo, e dentro de mais um ou dois anos não mais im portaremos o cereal nobre.
Zonas tritícolas brasileiras
As principais zonas tritícolas brasi-

leiras são as seguintes: a zona frontei riça, o pampa sul-riograndcnse, incluindo Pelotas, Encruzilhadas, Jaguarão, Bagé, Dom Pcclrilo e outros municípios, e avan. çando para Livramento, Uruguaiana e São Borja, zona essa de grande futuro, só por si capaz de abastecer o Brasil; terras altas do planalto, indo das pro ximidades dc Porto Alegre para oeste, alcançando as margens do Uruguai ao norte e a oeste, incluindo muitos muni cípios como Passo Fundo e Venâncio Aires; os planaltos catarinenses, incluin do Lages, Caçador, Perdize.s c outros mu nicípios. As trcs zonas citadas apre-* sentam boa topografia c estão produzin do mais por unidade de área do que os Estados Unidos, o Canadá e a Argentina. As zonas de Fatos e Montes Claros, em Minas Gerais, entraram em progresso muito promissor, e são de grande fu turo. Estão precisando de mais semen tes máquinas agrícolas, transportes o moinhos. O Ministério da Agricultura 15 está provendo na medida do possível. Nos municípios paulistas de Miguel Ar canjo, Capão Bonito, Itapetininga. etc., está-s© formando boa zona tritícola que muito promete.
Está chegando a Goiás um número re lativamente grande "de famílias de tri ticultores italianos, o que vai concorrer muito favoràvelmente para o progiesso da triticultura dos planaltos centrais.
Produção por hectare
A produção média varia entre 800 e 1.000 quilogramas por hectare, podendo
ser considerada boa, pois a média ar gentina é de xms 700 quilos e a norteamericana de uns 800. Nas faixas me lhores e em terras adubadas, a safra tem atingido os 2.000 quilos e até mes mo os 2.500 quilos.
Atualmente, o trigo é uma das cul turas mais lucrativas do Brasil, o que muito está concorrendo para a sua ex pansão.
CoTKlusõesa — O trigo é cultivado nos países de clima temperado e nos países tropi cais, onde e.xistam planaltos que corrijam a baixa latitude. E' tropical o quarto grande produtor de trigo do mundo — a índia;
b — as novas \-ariedades de trigo se lecionadas no Brasil são excelentes pa ra grandes áreas de nosso temtório e boas para áreas imensas;
c — a produção de trigo por unidade de área está sendo maior no Brasil do que nos Estados Unidos, Argentina e Austrália;
d — n lavoura tritícola está precisada principalmente de mais armazéns, moi nhos, adubos e máquinas — o que aliás vem sendo providenciado pelo Ministério da Agricultura, na medida do possível. Em São Paulo os princípios da lavoura sêca tenderiam a fornecer safras mais vultosas e mais garantidas;
e — o Brasil poderá ser \un grande país triticultor se não abandonarmos a atual política de amparo à lavoura.
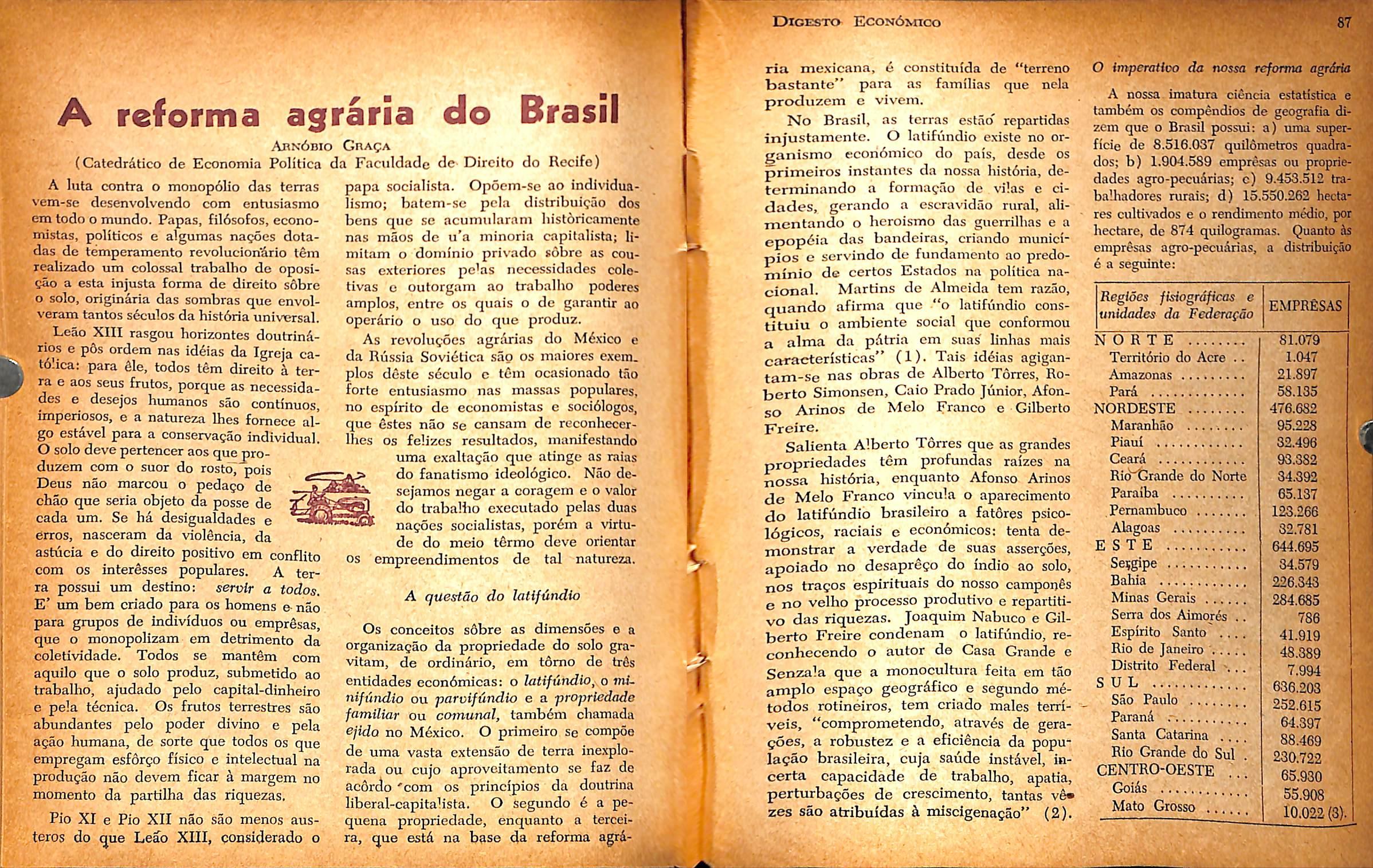
A luta contra o monopólio das terras vem-Se desenvolvendo com entusiasmo em todo o mundo. Papas, filósofos, econo mistas, políticos e algumas nações dota das de temperamento revolucionário têm realizado um colossal trabalho de oposi ção a esta injusta forma de direito sôbre o solo, originária das sombras que envol veram tantos séculos da história universal.
Leão Xin rasgou horizontes doutriná rios e pôs ordem nas idéias da Igreja eató.ica: para êle, todos têm direito à ter ra e aos seus frutos, porque as necessida des e desejos humanos são contínuos, imperiosos, e a natureza lhes fornece al go estável para a conservação individual. O solo deve pertencer aos que pro duzem com o suor do rostõ^~pois
Deus não marcou o pedaço de chão que seria objeto da posse de cada um. Se há desigualdades e erros, nasceram da violência, da astúcia e do direito positivo em conflito com os ínterêsses populares. A ter ra possui um destino: servir a todos.
E' um bem criado para os homens e- não para grupos de indivíduos ou emprêsas, que o monopolizam em detrimento da coletividade. Todos se mantêm com aquilo que o solo produz, submetido ao trabalho, ajudado pelo capital-dinheiro e pela técnica. Os frutos terrestres são abundantes pelo poder divino e pela ação humana, de sorte que todos os que empregam esforço físico e intelectual na produção não devem ficar à margem no momento da partilha das riquezas.
Pio XI e Pio XII não são menos aus teros do que Leão XIII, considerado o
papa socialista. Opõem-se ao individua lismo; batem-sc pela distribuição dos bens que se acumularam històricamenle nas mãos de u'a minoria capitalista; li mitam o domínio privado sobre as cousas exteriores pe^as necessidades cole tivas c outorgam ao trabalho poderes amplos, entre os quais o de garantir ao operário o uso do que produz.
As revoluções agrárias do Mé.xico e da Rússia Soviética são os maiores exem. pios deste século c têm ocasionado tão forte entusiasmo nas massas populares, no e.spmto de economistas e sociólogos, que êstes não se cansam de reconhecerlhes os felizes resultados, manifestando uma exaltação que atinge as raias do fanatismo ideológico. Não de sejamos negar a coragem e o valor do trabalho executado pelas duas nações socialistas, porém a \irtude do meio têrmo deve orientar empreendimentos de tal natureza.
Os conceitos sôbre as dimensões e a organização da propriedade do solo gra vitam, de ordinário, em tômo de três entidades econômicas: o latifúndio, o mú nifútidio ou parvifúndio e a propriedade familiar ou cojnunal, também chamada ejido no México. O primeiro se compõe de uma vasta extensão de terra inexplo rada ou cujo aproveitamento se faz de acôrclo 'com os princípios da doutrina liberal-capitahsta. O segundo é a pe quena propriedade, enquanto a tercei ra, que está na base da reforma agráos
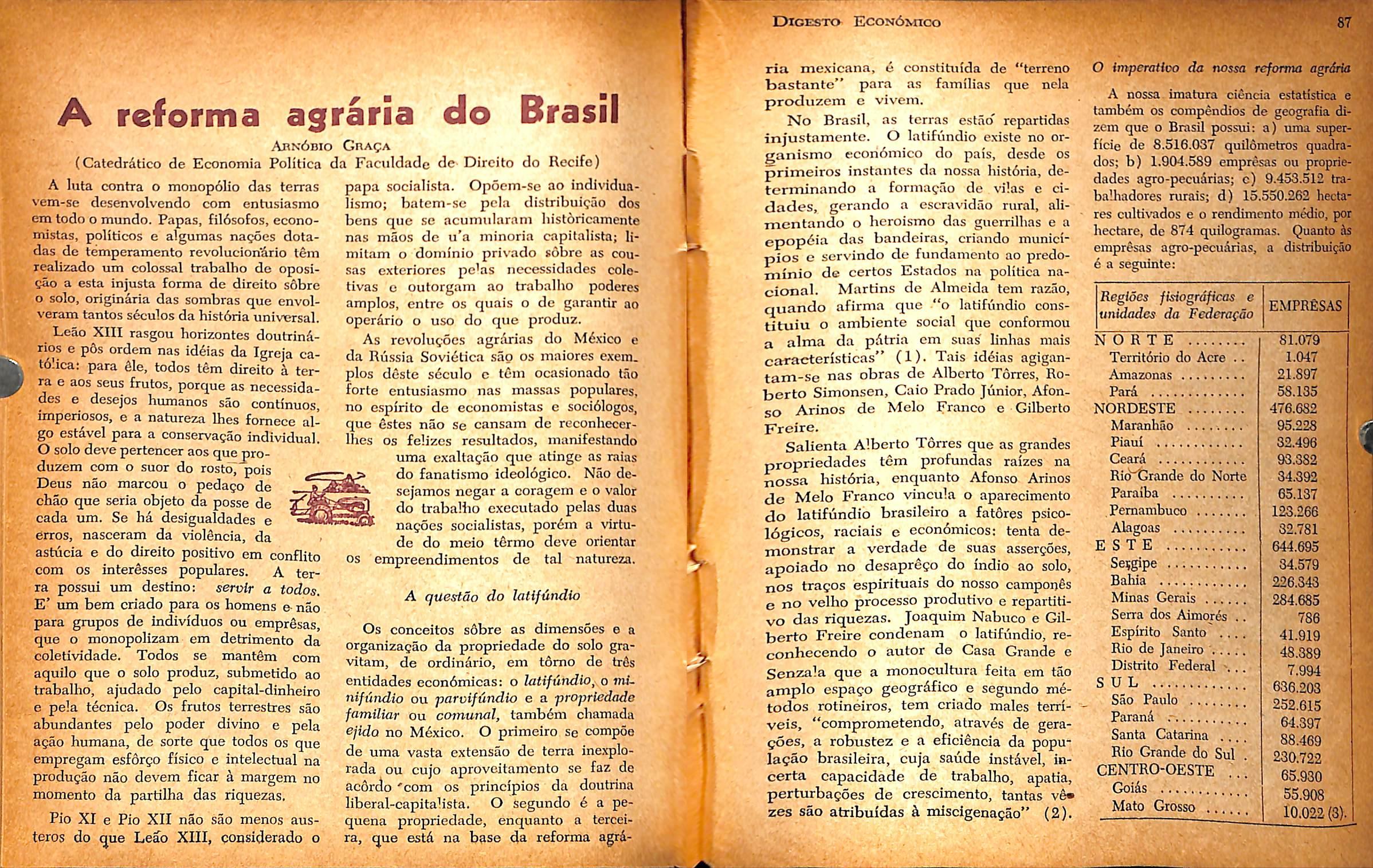
ria mexicana, é constituída de "terreno bastante" para as famílias que nela produzem e vivem.
No Brasil, as terras estão' repartidos injustíimente. O latifúndio existe no or ganismo econômico do país, desde os primeiros instantes da nossa história, de terminando a formação de vilas e ci dades, gerando a escravidão rural, ali mentando o heroismo das guerrilhas e a epopéia das bandeiras, criando municí pios e servindo de fundamento ao predo mínio dc certos E.stados na política na cional. Martins de Almeida tem razão, quando afirma que "o latifúndio cons tituiu o ambiente social que conformou a alma da pátria em suas' linhas mais cai^cterísticas" (1). Tais idéias agigan tam-se nas obras de Alberto Torres, Ro berto Simonsen, Caio Prado Júnior, Afon so Arinos de Melo Franco e Gilberto Freire.
Salienta Alberto Tôrres que as grandes propriedades têm profundas raízes na
nossa liistóría, enquanto Afonso Arinos de Melo Franco vincula o aparecimento do latifúndio brasileiro a fatôres psico lógicos, raciais e econômicos: tenta de monstrar a verdade de suas asserções, apoiado no desaprêço do índio ao solo, nos traços espirituais do nosso camponês e no velho processo produtivo e repartitivo das riquezas. Joaquim Nabuco e Gil berto Freire condenam o latifúndio, re conhecendo o autor de Casa Grande e Senzala que a monocultura feita em tão amplo espaço geográfico e segundo mé todos rotineiros, tem criado males terrí veis, "comprometendo, através de gera ções, a robustez e a eficiência da popu lação brasileira, cuja saúde instável, in certa capacidade de trabalho, apatia, perturbações de crescimento, tantas vê* zes são atribuídas à miscigenação" (2).
O imperativo da noísn reforma agrária
A nossa imatura ciência estatística e também os compêndios de geografia di zem que o Brasil possui: a) uma super fície de 8.516.037 quilômetros quadra dos; b) 1.904.589 emprêsas ou proprie dades agro-pecuárias; o) 9.453.512 tra balhadores rurais; d) 15.550.262 hecta res cultivndos e o rendimento médio, por hectare, de 874 quilogranias. Quanto às emprêsas agro-pecuárias, a distribuição é a seguinte:
Regiões fisiográficas c unidades da Federação
Por êsse quadro, o país está di vidido em cinco regiões físiográficas, apresentando uma considerável desi gualdade econômica. Nota-se, de logo, que no Brasil a distribuição das terras é desordenada, prejudicial às grandes massas camponesas e ainda subordina da a fatôres históricos e políticos, a velhos preconceitos de família e de classe. -" ^ v • Temos uma superfície de 8.516.037 quilôme- 'If" quadrados e possuimos apenas 1.904.589 propriedades agro-pecuá-
I"° ^ muito pouco, exammadas as condições e ne cessidades da produção e do consumo a fisionomia de cada região, as espé cies de emprêsas e a soma dos traba lhadores rurais. Êstes são em núme ro de 9.453.512 e assim a quase tota lidade dos que pelejara realmente nos campos não têm direito à terra e aos seus frutos, vivendo uma vida de párias e não podendo, portanto, co operar, com eficiência, no aumento da produção agrícola.
Os Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, são hoje o maior império burguês do mundo. Dentro das suas fronteiras, o sistema capi talista cresceu de tal modo que se transformou num gigantismo econômico sem paralelo em qualquer outra parte do globo. Todavia, nesta nação capi talista as terras estão mais bem distri buídas do que no Brasil: nas estâncias norte-americanas há 10.740.000 lavra dores, dos quais 8.145.000 são proprie tários e os restantes são trabalhadores assalariados (4).
E' certo que nSo devemos identificar as condições históricas, demográficas, econômicas e sociais dos dois países americanos, mas bem podemos lamen tar a situação dos nossos quase dez miiliücs de camponeses sem meios dc produção c de existência. E' que, no Brasil, tudo é diferente, ape sar de cinco séculos dc vida, de três séculos dc colonização portuguesa, de quase vinte e seis lastros dc indepen dência política e sessenta anos de re pública. Diferente, porquanto os la tifúndios continuam a existir, asfi xiando os pequenos proprietários e os trabalhadores sem terras, estimulan do o pauperismo rural e aumentando os males da nossa organização eco nômica, a despeito dos generosos pro pósitos reformistas do atual govêmo. Diferente, porque a mecanização e outros processos racionais de cultura são ainda um sonho num país de la vradores pobres. Diferente, pois o cré dito agrícola se transformou num privi légio econômico e político: a garan tia pessoal nada vale numa nação on de sòmente os magnatas e os chefes eleitorais têm o direito de viver a sua grande vi da vegetativa. Diferente, uma vez que as pragas per manecem devastando as la vouras sem que haja medi das eficazes para vencê-las.
Consoante os dados estatísticos era análise e as dimensões físicas, o Nor te e o Centro-Oeste são as regiões mais infelizes, porque a distribuição das suas terras está governada pelas IÇis de uma economia que não progri de por vários fatôres, entre os quais

aparece a ausência de boa política de povoamento e a falta de recursos finan ceiros, técnicos, sanitários e humanos do Brasil.
íl) Mrtins de Almeida — Brasil Errado pág. 77: A. Carneiro Leão — A
Sociodado Hural — pág. 233; Barbosa Lima Sobrinlio — Problemas Econô micos o Sociais da Lavoura Canaviei ra págs. 41 e segs.: Aguinaldo CosApontamentos para uma refor-

ma agrária — pâgs. 23... 188...; A. Wautcrs — La Reforma Agraria en Europa.
(2) Alberto Torres — A Organização Na cional — págs. 57... 183...; Afonso Arinos de Melo Franco — Conceito de Civilização Brasileira — págs. 143 e segs.
(3) Sinopse Esiatisiica do Brasil — I. B. G. E. — 1947; O Observador Econômi co e Financeiro — N^s. 144 a 146, de 1948.
(4) Os Estados Unidos da América — pu blicação do S. I. I. I. — Secretaria de Estado — Washington — D. C.
Segundo a opinião de alguns obseroadores competentes, as minas de juta na índia talvez sejam forçadas a reduzir suas horas de trabalho tio próximo verão por Lntitío da escassez da fibra bruta, a preços econômicos. Consta que até o njomento ustmw indianas já adquiriram 3.750.000 fardos da cota de 5.000.000, estabelecida neto Paquistão Orientai. Atualmente o comércio de exportações da fibra bruta pstá sendo feito principalmente pelo pôrto de Chittagong, no Paquistão. Os uUirtws ãnrlot estatísticos, relativos a novembro do ano passado, revelam que as exportações nor Calcutá alcançaram apenas 80.000 fardos, em confronto com 178.000 fardos em ^nnemhro de 1947- No período de julho a novembro do ano passado foram exporta^dos 261 000 fardos, em confronto com 640.000 no período correspondente de 1947. Uma comissão nomeada pelo govêrno da índia recomendou o Aumctifo da etc, ortacão de bruto para os países da área do dólar. Atualmente o Ministério Comércio daquele pais está estudando as recomendações propostas, segundo as auais seria fixado um limite mínimo de 900.000 fardos. Consta, entretanto, que se 05 estoques das usinas indianas cairem de forma alannante, talvez seja necessária a adoção de um sistema de prioridades.
Entrementes, o govêrno do Paquistão Oriental refutou a alegação indiana de que os desembarques de juta em bruto até.agora realizados em Calcutá são imiúo tnfcriores às expectativas, alcançando apenas 1.600.000 fardos. Afirma o referido govêrno que até o fim de dezembro passado devem ter chegado àquele porto nada menos de 2.900.000 fardos de fibra, ou sejam, 1.300.000 além do total calculado pelo govêr no indiano. Nas cifras acima referidas não estão incluídos os carregamentos que transitam pelo pôrto livre de Calcutá. ^
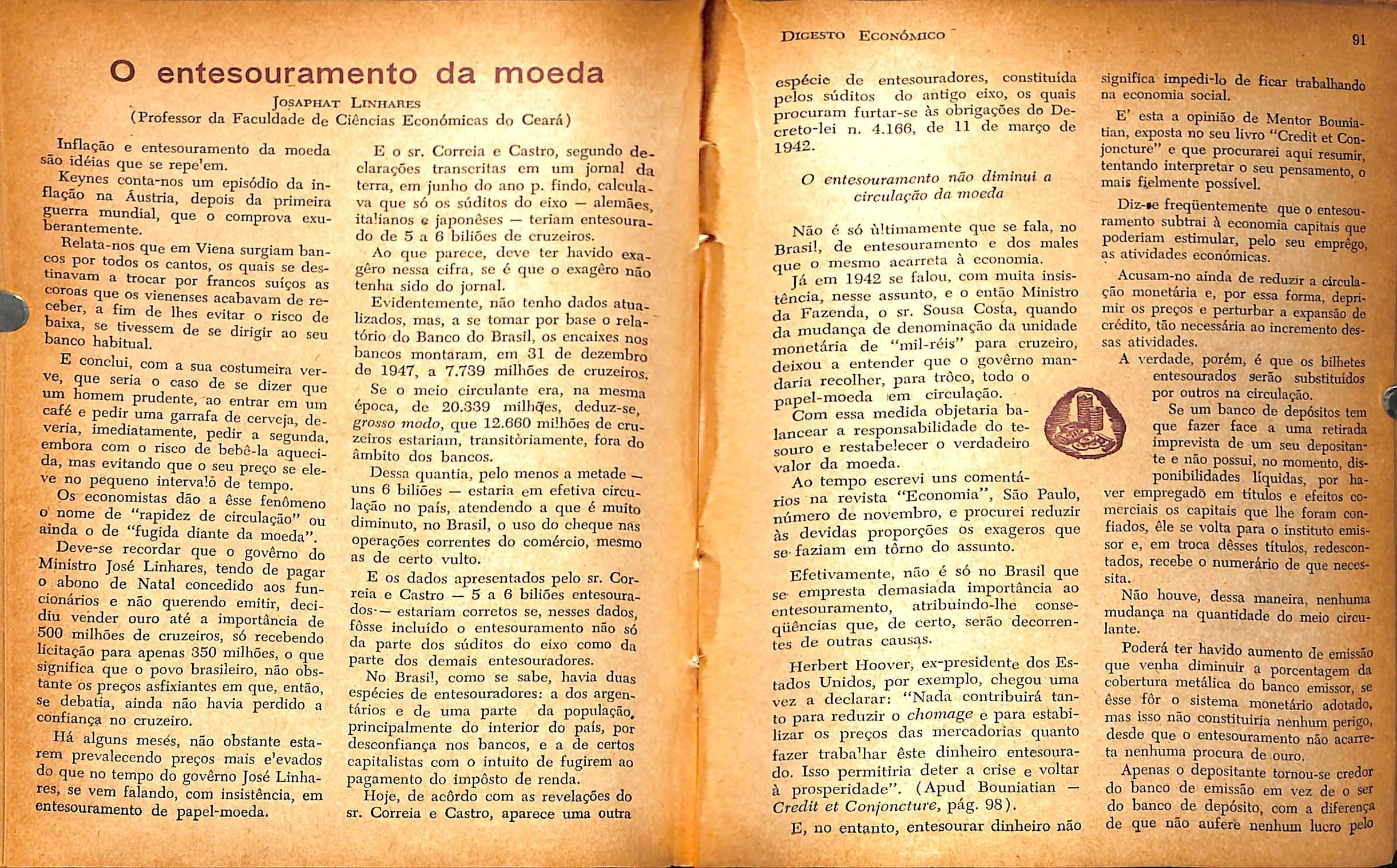
_^/^^Ção e entesouramento da moeda são idéias que se repe*em.
Keynes conta-nos um episódio da in alação na Áustria, depois da primeira guerra mundial, que o comprova exu berantemente.
Relata-nos que em Viena surgiam ban cos por todos os cantos, os quais se des lavam a trocar por francos suíços as oas que os vienenses acabavam de peber, a fim de lhes evitar reo risco de baixa, se Hvessem de se dirigir ao'síü banco habitual.
E conclui, com a sua costumeira verque seria o caso de se dizer que um homem prudente, ao entrar cm hm caté e pedir uma garrafa de cerveja devena, imediatamente, pedir a segunda embora com o risco de bebô-la aqueci da, mas evitando que o seu preço se ele ve no pequeno intervalo de tempo.
Os economistas dão a êsse fenômeno o' nome de "rapidez de circulação" ou ainda o de "fugida diante da moeda".
Deve-se recordar que o govêmo do Ministro José Linhares, tendo de pagar o . abono de Natal concedido aos fun cionários e não querendo emitir, deci diu vender ouro até a importância de 500 milhões de cruzeiros, só recebendo licitação para apenas 350 milhões, o que significa que o povo brasileiro, não obs tante os preços asfixiantes em que, então, Se debatia, ainda não havia perdido a confiança no cruzeiro.
Há alguns mesés, não obstante esta rem prevalecendo preços mais elevados do que no tempo do govêmo José Linha res, se vem falando, com insistência, em entesouramento de papel-moeda.
E o sr. Correia e Castro, segundo de clarações transcritas cm um jornal da terra, cm junho do ano p. findo, calcula va que só os súditos do eixo — alemães, italianos c japonêses — teriam entesourado de 5 a 6 biliões de cruzeiros.
Ao que parece, deve ter ha\-ido exa gero nessa cifra, se 6 que o exagero não tenha sido do jornal.
Evidentemente, não tenho dados atua lizados, mas, a se tomar por base o rela-' tório do Banco do Brasil, os encaixes nos bancos montaram, cm 31 de dezembro de 1947, a 7.739 milhões do cruzeiros.
Se o meio circulante era, na mesma época, de 20.339 milh(|es, deduz-se, grosso modo, que 12.660 milhões de cru zeiros estariam, transitòriamente, fora do âmbito dos bancos.
Dessa quantia, pelo menos a metade ^ uns 6 biliões — estaria em efetiva circu lação no país, atendendo a que é muito diminuto, no Brasil, o uso do cheque nas operações correntes do comércio, mesmo as de certo vulto.
E os dado.s apresentados pelo sr. Cor reia e Castro — 5 a 6 biliões entesourados-— estariam corretos se, nesses dados, fosse incluído o entesouramento não só da parte dos súditos do eixo como da parte dos demais entesouradores.
No Brasil, como se sabe, havia duas espécies de entesouradores: a dos argentários e de uma parte da população, principalmente do interior do país, por desconfiança nos bancos, e a de certos capitalistas com o intuito de fugirem ao pagamento do imposto de renda.
Hoje, de acôrdo com as revelações do sr. Correia e Castro, aparece uma outra
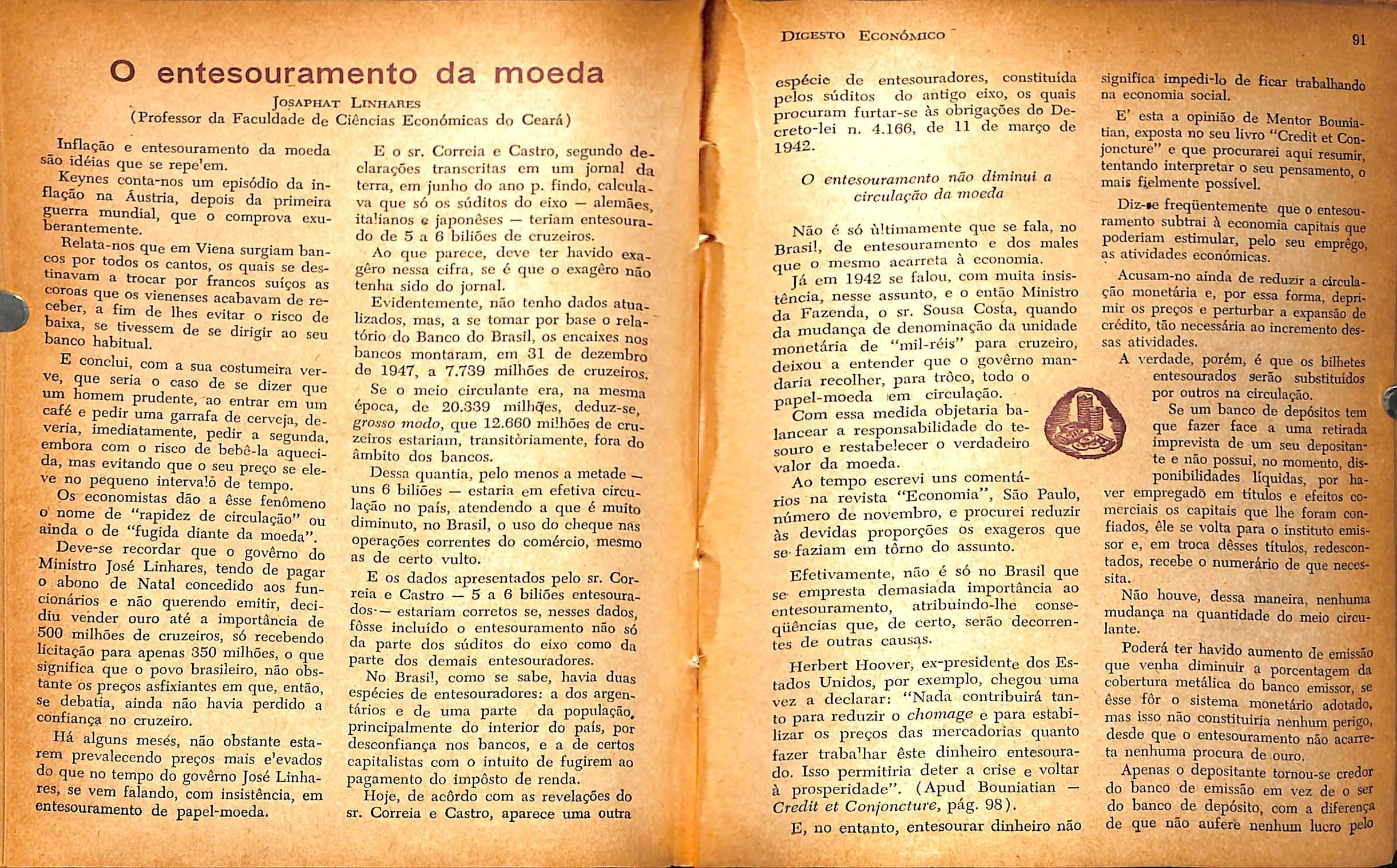
espécie de entesouradores, constituída pelos súditos do antigo eixo, os quais procuram furtar-se às obrigações do De creto-lei n. 4.166, de 11 de março de 1942.
O entesouramento não diminui a circulação da moeda
Não c só iiltímamente que se fala, no Brasil, de entesouramento e dos males que o mesmo acarreta à economia, Tá em 1942 se falou, com multa insis tência, nesse assunto, e o então Ministro (3a Fazenda, o sr. Sousa Costa, quando rnudança de denominação da unidade monetária de "mü-réis" para^ cruzeiro, deixou a entender que o govêmo man daria recolher, para troco, todo o papel-moeda em circulação.
Com essa medida objetaria ba lancear a responsabilidade do te souro e restabelecer o verdadeiro valor da moeda.
Ao tempo escrevi uns comentá mos na revista "Economia", São Paulo, número de novembro, e procurei reduzir às devidas proporções os exageros que se- faziam em torno do assunto.
Efetivamente, não é só no Brasil que SQ. empresta demasiada importância ao entesouramento, atribuindo-lhe conse qüências que, de certo, serão decorren tes àe outras causas.
Herbert Hoover, ex-presidente dos Es tados Unidos, por exemplo, chegou uma vez a declarar: "Nada contiibuirá tan to para reduzir o chomage e para estabi lizar os preços das mercadorias quanto fazer trabalhar este dinheiro entesourado. Isso permitiria deter a crise e voltar à prosperidade". (Apud Bouniatian Credit et Conjoncture, pág. 98).
E, no entanto, entesourar dinheiro não
significa impedi-lo de ficar trabalhando na economia social.
E' esta a opinião de Mentor Bounia tian, exposta no seu 1í\to "Credit et Conjoncture" e que procurarei aqui resumir, tentando interpretar o seu pensamento, o mais fielmente possível.
Diz-fe freqüentemente, que o entesou ramento subtrai à economia capitais que poderiam estimular, pelo seu emprego, as atividades econômicas.
Acusam-no ainda de reduzir a circula ção monetária e, por essa forma, depri mir os preços e perturbar a expansão de crédito, tão necessária ao incremento des sas atividades.
A verdade, porém, é que os bilhetes entesourados serão substituídos por outros na circulação.
Se um banco de depósitos tem que fazer face a uma retirada imprerista de um seu depositante e não possui, no momento, dis ponibilidades líquidas, por ha ver empregadô em títulos e efeitos co merciais os capitais que lhe foram con fiados, ele se volta para o instituto emis sor e, em troca desses títulos, redescon tados, recebe o numerário de que neces sita.
Não houve, dessa maneira, nenhuma mudança na quantidade do meio circu lante.
Poderá ter havido aumento de emissão que venha diminuir a porcentagem da cobertura metálica do banco emissor, se êsse for sistema monetário adotado, mas isso não constituiria nenhum perigo, desde que o entesouramento não acarre ta nenhuma procura de ouro.
Apenas o depositante tomou-se credor do banco de emissão em vez de o ser do banco de depósito, com a diferença de que não aufere nenhum lucro
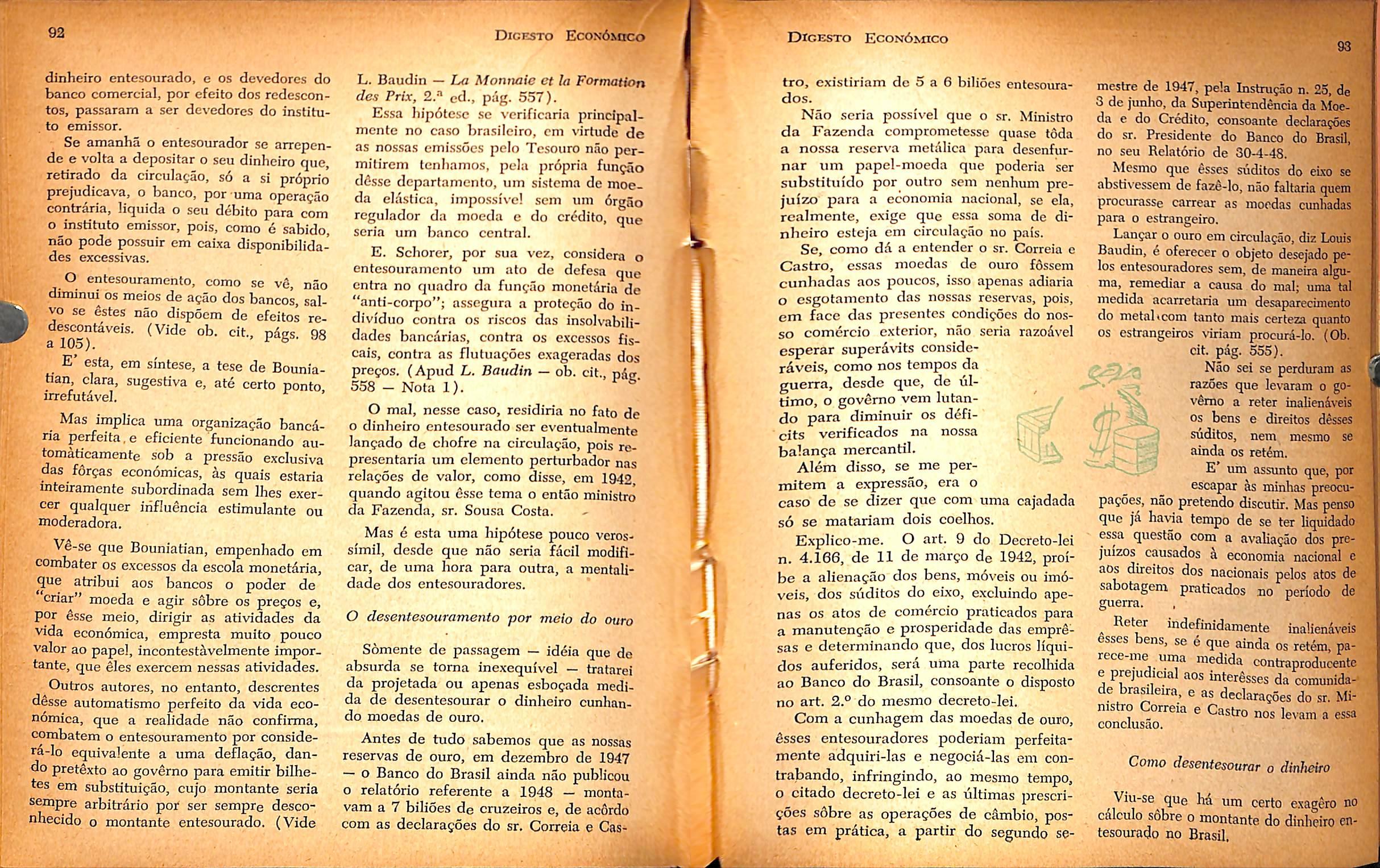
dinheiro entesourado, e os devedores do banco comercial, por efeito dos redescon tos, passaram a ser devedores do institu to emissor.
Se amanhã o entesourador se arrepen de e volta a depositar o seu dinheiro que, retirado da circulação, só a si próprio prejudicava, o banco, por uma operação contrária, liquida o seu débito para com o instituto emissor, pois, como c sabido, não pode possuir em caixa disponibilida des excessivas.
O entesouramento, como se vc, não diminui os meios de ação dos bancos, sal vo se estes não dispõem de efeitos redescontáveis. (Vide ob. cít., páes 98 a 105).
E' esta, em síntese, a tese de Bouniatian, clara, sugestiva e, até certo ponto irrefutável.
Mas implica uma organização bancá ria perfeita,e eficiente funcionando automáticamente sob a pressão exclusiva das forças econômicas, às quais estaria inteiramente subordinada sem lhes exer cer qualquer influência estimulante ou moderadora.
Vê-se que Bouniatian, empenhado em combater os excessos da escola monetária, que atribui aos bancos o poder de criar" moeda e agir sôbre os preços e, por êsse meio, dirigir as atividades da vida econômica, empresta muito pouco valor ao pape], incontestàvelmente impor tante, que lies exercem nessas atividades. Outros autores, no entanto, descrentes dêsse automatismo perfeito da vida eco nômica, que a realidade não confirma, combatem o entesouramento por conside rá-lo equivalente a uma deflação, dan do pretêxto ao governo para emitir bilhe tes em substituição, cujo montante seria sempre arbitrário pof ser sempre desco nhecido o montante entesourado. (Vide
L. Baudin — La Montiaie et Ia Formation des Prix, 2.*'' cd., pág. 557).
Essa hipótese se verificaria principal mente no caso brasileiro, cm virtude de as nossas emi.ssoes pelo Tesouro não per mitirem tcniiamos, pela própria função dêsse departamento, um sistema de moe da elástica, impossível sem um órgão regulador da moeda e do crédito, que seria um banco central.
E. Schorer, por sua vez, considera o entesouramento um ato de defesa que entra no quadro da função monetária de "anti-corpo"; assegura a proteção do in divíduo contra os riscos das insolvabilidades bancárias, contra os excessos fis cais, contra as flutuações exageradas dos preços. (Apud L. Baudin — ob. cit. páe 558 -Notai).
O mal, nesse caso, residiria no fato de o dinheiro entesourado ser eventualmente lançado de chofre na circulação, pois re presentaria um elemento perturbador nas relações de valor, como disse, em 1942 quando agitou êsse tema o então ministro da Fazenda, sr. Sousa Costa.
Mas é esta uma hipótese pouco veros símil, desde que não seria fácil modifi car, de uma hora para outra, a mentali dade dos entesouradores.
O desentesouramento por meio do ouro
Somente de passagem — idéia que de absurda se toma inexequível — tratarei da projetada ou apenas esboçada medi da de desentesourar o dinheiro cunhan do moedas de ouro.
Antes de tudo sabemos que as nossas reservas de ouro, em dezembro de 1947 — o Banco do Brasil ainda não publicou o relatório referente a 1948 — monta vam a 7 biliões de cruzeiros e, de acôrdo com as declarações do sr. Correia e Cas-
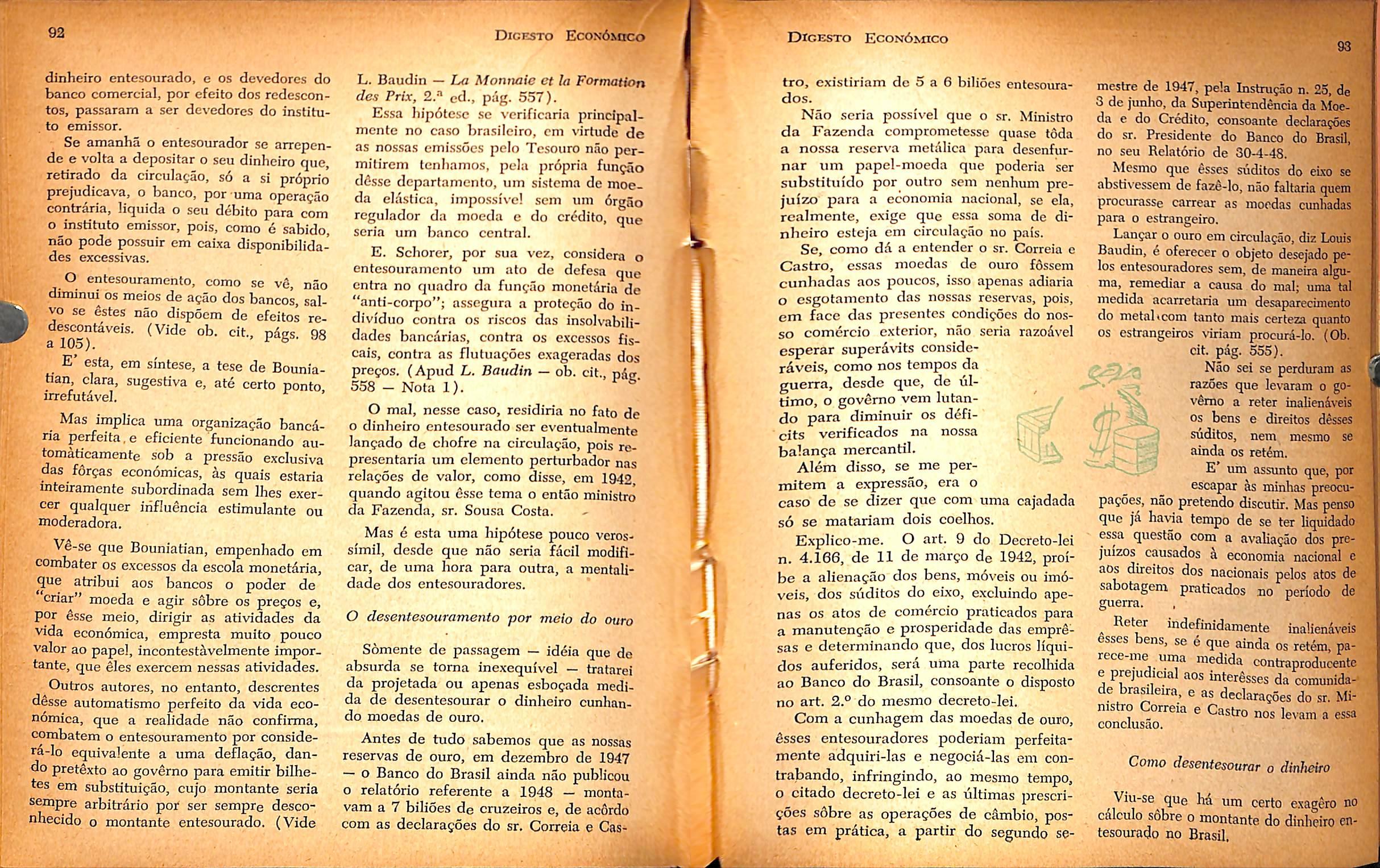
tro, existiriam do 5 a 6 biliões entesourados.
Não seria possível que o sr. Ministro da Fazenda comprometesse quase toda a nossa reserva metálica para desenfurnar um papel-moeda que poderia ser substituído por outro sem nenhum pre juízo i)ara a economia nacional, se ela, realmente, exige que essa soma de di nheiro esteja cm circulação no país.
Se, como dá a entender o sr. Correia e Castro, essas moedas de ouro fôssem cunhadas aos poucos, isso apenas adiaria o esgotamento das nossas reservas, pois, em face das presentes condições do nos so comércio exterior, não seria razoável esperar superávits conside ráveis, como nos tempos da guerra, desde que, de últímo, o governo vem lutan do para diminuir os déficits verificados na nossa balança mercantil.
Além disso, se me per mitem a expressão, era o caso de se dizer que com uma cajadada só se matariam dois coelhos.
Explico-me. O art. 9 do Decreto-lei n. 4.166, de 11 de março de 1942, proí be a alienação dos bens, móveis ou imó veis, dos súditos do eixo, excluindo ape nas os atos de comércio praticados para a manutenção e prosperidade das emprêsas e determinando que, dos lucros líqui dos auferidos, será uma parte recollúda ao Banco do Brasil, consoante o disposto no art. 2.° do mesmo decreto-lei.
Com a cunhagem das moedas de ouro, êsses entesouradores poderiam perfeita mente adquiri-las e negociá-las em con trabando, infringindo, ao mesmo tempo, o citado decreto-lei e as últimas prescri ções sôbre as operações de câmbio, pos tas em prática, a partir do segundo se-
mestre de 1947, pela Instrução n. 25, de 3 de junho, da Superintendência da Moe da e do Crédito, consoante declarações do sr. Presidente do Banco do Brasil, no seu Relatório de 30-4-48.
Mesmo que êsses súditos do ebco se absti\ essem de fazê-lo, não faltaria quem procurasse carrear as moedas cunhadas para o estrangeiro.
Lançar o ouro em circulação, diz Louis Baudin, é oferecer o objeto desejado pe los entesouradores sem, de maneira algu ma, remediar a causa do mal; uma tal medida acarretaria um desaparecimento do metahcom tanto mais certeza quanto os estrangeiros viriam procurá-lo. (Ob. cit. pág. 555).
Não sei se perduram as razões que levaram o govêmo a reter inalienáveis os bens e direitos desses súditos, nera mesmo se ainda os retém.
E' um assunto que, por escapar às minhas preocu pações, não pretendo discutir. Mas penso que já havia tempo de se ter liquidado essa questão com a avaliação dos pre juízos^ causados à economia nacional e aos direitos dos nacionais pelos atos de sabotagem praticados no período de guerra.
Reter indefinidamente inalienáveis êsses bens, se é que ainda os retém, pa rece me uma medida contraproducente e prejudicial aos interêsses da comunida de bra^leira, e as declarações do sr. Mi nistro Correia e Castro nos levam a essa conclusão.
Como desentesourar o dinheiro
Viu se que há um certo exagero no cálculo sôbre o montante do dinheiro en tesourado no Brasil.

Embora tenha conseguido, jogando com dados oficiais, reduzir a soma cal culada, ainda assim creio que é muito menor a quantia de moeda realmente fora da circulação.
Depois, resumindo a tese de Mentor Bouníatian, demonstrarei que o enlesouramento não produz os males que geral mente se lhe atribuem.
Mas, admitindo que haja tanto entesouramento e que o mesmo é prejudicial, quais as medidas que se poderiam tomar para conjurá-lo, desde que, como ficou demonstrado, está fora de discussão cn, tre pessoas sensatas a cunhagem de moe^ das de ouro?
Vimos que, presentemente, há três espécies de entesouradores no Brasil.
Para evitar o entesouramento da parte dos súditos do antigo eixo, se é que esse entesouramento está perturbando a economia nacional, a medida, natural mente indicada — se já não foi posta era prática — seria solucionar a situação jurídica dêsses estrangeiros, com a libe ração de seus bens, depois de pagas as indenizações devidas.
Quanto aos demais entesouradores, te mos ainda de atender às razoes que os levam ao entesouramento.
Se a baixa ou mesmo a supressão da taxa dos juros, pagos aos depositantes, poderia suprimir os motivos do entesoura mento por parte dos que procuram fugir ao impôsto de renda, tiraria, por outro lado, o maior incentivo para a formação dos depósitos dos pequenos poupadores que concorrem, ínegàvelmente, para uma boa parte dos recursos líquidos de que se servem os bancos.
O remédio seria uma persistente ação educativa que fôsse incutindo em todoí o espírito de poupança e inspirando-lhes, igualmente, confiança nos estabelecimcn-
tos bancário.s, por uma política de efi ciente fiscalização.
Em relação aos que fogem do fisco, a providência seria isentar os lucros, de correntes do.s juros dos depósitos bancá rios, do imposto dc renda.
A comunidade ganharia com essa mas sa de capital que seria empregada pelos bancos nas indústrias, no comércio c na lavoura, contribuindo, além disso, para o fisco, com somas mais axnUadas do que as produzidas pela renda dos juros de depósitos.
O mal não está no entesouramento
O mal, porém, não está no entesoura mento. Está na estrutura c no funciona mento do credito do país.
Não há uma organização bancária, na perfeita acepção da palavra, com bancos comerciais, bancos de negócios, bancos de crédito especializados e um Banco Central, que com as suas funções de re desconto e de emissão, assuma a respon sabilidade de prestamista de última ins tância, para assegurar a solidez da estru tura do crédito no país.
O Banco do Brasil, embora possuindo uma carteira de redesconto, não tem a função emissora.
Se a estrutura do crédito não é sólida, o seu funcionamento não é perfeito.
As taxas de desconto são muito altas e quase extorsivas, podendo-se dizer p mesmo das taxas de redescontos.
Os encaixes são por demais elevados, estagnando-se a economia nacional à falta de crédito barato e devidamente or ganizado.
Diz-se, com razão, que encaixes ele vados garantem os bancos e os tomam sólidos.
Mas constituem disponibilidades im-

produtivas, podendo, em parte, ser subs tituídas por títulos fàcilmente rcalizávei-s, que, formando uma segunda reser va, representassem uma excelente liqui dez sem a improdutividade de um gmnde "ativo ocioso".
Por seu lado, o govÉmo, com a emis são dos bônus ou letras do Tesouro fran camente negociáveis, incentivaria â cria ção de um verdadeiro mercado monetá rio e o Banco Central poderia servir-se ainda das operações de open market co mo instrumento de controle do créditò e de regulação da moeda.
Nas condições atuais é que não pode mos continuar.
A teoria quantitativa da moeda subor dina a sua tese à inalterabilidade do montante das mercadorias ou volume das trocas.
Assim, o valor da moeda estaria na ra zão inversa do seu volume.
Hoje, no Brasil, poderemos dizer, sem contrariar a teoria quantitativa, que o valor da moeda decresce sem aumento ou mesmo com diminuição do seu volu me, desde que estamos presenciando um contínuo decréscimo da produção, que se reflete na diminuição da oferta de mercadorias.
Com preços em contínua ascensão, não mais devido ao aumento do meio circulante mas ao decréscimo da produ ção, não se pode continuar com essa po lítica de "não emitir".
Julgando-se estar obedecendo a ura princípio salutar em economia monetá ria, o que se verifica, na realidade, é que se está contra os próprios postulados dessa teoria.
Os bancos persistem em limitar cada
\ez mais as suas operações de crédito para não diminuir os seus recursos líqui dos em rirtude das limitações do Ban co do Brasil.
V vemos é que êsses recursos líquidos — os depósitos — diminuem constantemente.
Os depositantes acham mais remunerador retirá-los e empregá-los em ope rações de agiotagem.
Cumpre uma reação salutar a essa po 1 ca e estagnação da economia naconal em nome de um principio que está sendo mterpretado erroneamente.
A moda tem de ser elástica. Se o seu aumento concorre para a e]e%-açáo dos preços, êstes podem, e muitas vèzes o temos visto, determinar o aumento do meio circulante ou a sua velocidade de circulação, tomando-se causas em vez de efeitos.
O que constitui um crime é essa polí tica desalentadora das atividades produtivas a pretêxto ou com intuitos de repri mir atividades especuladoras.
A Verdade é que a especulação se aÜ* menla dessas dificuldades criadas a tí tulo de combatê-la.
Brasil é um órgão re gulador da moeda e controlador do cré dito, com uma administração técnica e eficiente para superintendê-lo.
Felizmente, uma reação já se esboça a esse estado de coisas
O govêmo, parece, não mais quer per sistir nessa política de "não emittr» a todo transe.
E se enrantra no Parlamento um pro jeto de reforma b^mcária preconizando a criaçao do nosso Banco Central a de oulios estabelecimentos de crédito especializados. ^
crratii
 Guilherme Moojen
Guilherme Moojen
O orçamento público tem sido enca rado através dos tempos sob as mais di ferentes faces.
O primeiro orçamento surgiu sob o signo da liberdade, quando na Inglater ra (1215), os barões se revoltaram con tra o Rei João Sem Terra, exigindo-lhe, entre outras coisas, que nenhum tribu to fôsse lançado sem o consentimento do Conselho do Reino.
Mais tarde, os franceses exigiram, tam bém, o direito de votar os impostos que iam custear as despesas da côrte.
Todavia, tanto a Magna Carta, con cedida por João Sem Terra, como a declaração de direitos, fruto da Revo lução Francesa de 1789, deixavam ao rei a livre disposição do produto dos impostos.
Tempos depois (1649), o Rei Carlos I, da Inglaterra, ao pretender reaver o poder discricionário de tributar, teve a sua cabeça decepada pelo cutelo, em plena praça pública.
Podemos dizer que os orçamentos conquistados por êsses dois grandes po vos eram tão somente orçamentos de receita. A despesa era votada englobadamente e se destinava, em' sua maior parte, aos gastos pessoais do rei e da nobreza. Os impostos eram votados pe los grandes vassalos, barões e prelados, os quais, por sua vez, iam exigi-los de seus súditos.
Todavia, a votação dos impostos, nos moldes mencionados, foi uma grande conquista no terreno das liberdades pú blicas, dos direitos dos vassalos sôbre a prepotência real.
{Palestra proferida no s^ilão nobre da Universidade de Pôrto Alegre, sob a égide da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, pelo Dr. GuíIherme Moojen, professor da Cadeira de Ciência das Finanças, da Facul' dade de Ciências Políticas e Econô micas de Pôrto Alegre)
Daí em diante, muito sangue foi der ramado e muitas revoluções se empre enderam no sentido de se ampliar o di reito de votar o impôsto por um núme ro cada vez maior de cidadãos.
E assim, pouco a pouco, o orçamento foi-se tomando um instrumento da von tade popular, expressa através dos parla mentos.
O orçamento começou a ser visto não só mais como uma lei de impostos, mas também "como um ato contendo a apro vação prévia das receitas e das despe sas públicas", como diria Stourm.
Gradativamente, o orçamento foi to mando forma cada vez mais aperfeiçoa da, através dos estudos de Le Roy Bolieu, Stourm, Leon Say, Gaston Jèze e outros.
Firmaram-se os fundamentos do que tècnicamente deveria encerrar um bom orçamento, hoje aceitos por todos, tais como: veracidade, publicidade, corres pondência entre a receita e a despesa, unidade, periodicidade, especialização etc.
E, ultimamente, tem-se afirmado que o orçamento não é um frio documento

de contabilidade, contendo estimativas de receita c de despesa. Diz-se que o orçamento deve encerrar um plano de trabalho. Essa idéia nasceu na França, vinculada com a teoria da organização científica do trabalho, c está sendo apli cada, com notá\el sucesso, nos Estados Unidos.
O orçamento como plano de trabalho
Assim, o orçamento tem sido definido como "um p'ano do trabalho, c.xpresso em dinheiro, paia \'Ígorar dentro de tim determinado período".
O orçamento, assim entendido, como um plano de trabalho, tem estrei tas relações com o plonejamento administrativo, pois que o plane- íjamento administrativo nada mais é do que a formulação do progra ma para prever as necessidades futuras do govérno.^
Para elaborar-se este programa, deve ter-se em consideração operações já ocor ridas e operações que estão ocoiTcndo. E, assim sendo, o plano expresso no or çamento não deve ser entendido como um p^ano anual. O orçamento é um processo contínuo. Enquanto um orça mento está em plena execução, há um outro sendo elaborado para o exercício vindouro. Daí A. E. Buck afirmar, em sua notável obra "O Orçamento Públi co", pág. 4: "Em primeiro lugar, o or çamento é um plano de ação para um governo que está olhando para o futu ro".
Em suma, tal plano deveria abarcar a reunião de todos os dados necessários, a fim de que o órgão que tem a respon sabilidade de resolver o que deverá ser feito possa desempenhar suas funções in teligentemente (Villoughby).
Não há mais dúvida de que as fun-
ções de planejamento e e.recução devam pertencer ao executivo, pois que èste está em contado permanente e direto com a administração e, por isso, TntAk do que qualquer outro poder, está em con dições de conliecer das suas necessida des.
De outro lado, cabe ao legislativo, dentro das limitações constitucionais, de liberar o que deverá ser empreendido, e autorizar o levantamento dos créditos necessários à execução do plano, quer ^'otando o lançamento de impostos, quer autorizando o le\'antamento de emprésti mos.
Cabe também ao legislativo, uma vez o plano orçamentário aprovado e em vias de e.xecução, acompanhá; ■ Io diutumamente e criticá-lo, modificando-o, se necessário, pois seria inteiramente inócuo, uma ^'ez que o legislativo tem o po der de decidir o que deve ser feito, que não tiN-esse, ao mesmo tempo, o poder de e.xercer contrôle sôbre o executivo, a fim' de constatar se o que foi deliberado está sendo realmente exe cutado dentro dos moldes pré-«tabelecidos.
Contudo, numa democracia, é indis pensável uma ampla e decidida coope ração entre cs dois ramos, executivo e legislativo, no sentido de tudo ser em preendido, de tudo ser feito com eco nomia de tempo, material e pessoal, isto é, com o máximo de eficiência é o mí nimo de custo.
O papel dos Estados-Maiores {Staffs)
Vimos que a função de planejamen to e execução deve estar a cargo do executivo.
De outro lado, a ciência da adminis tração nos ensina que os traballios de
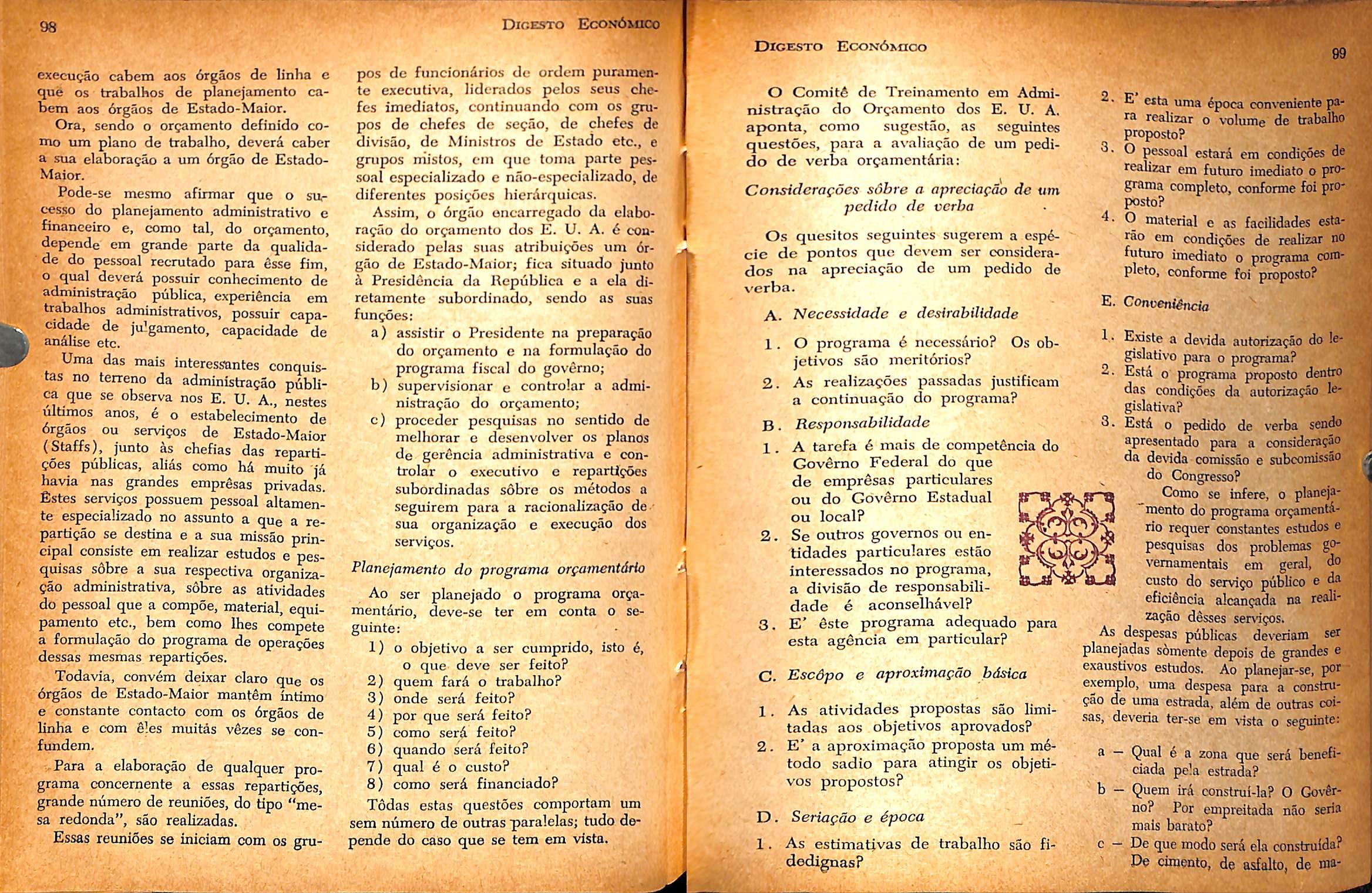
execução cabem aos órgãos de linha e que os trabalhos de planejamento ca bem aos órgãos de Estado-Maior.
Ora, sendo o orçamento definido co mo um plano de trabalho, deverá caber a sua elaboração a um órgão de EstadoMaior.
Pode-se mesmo afirmar que o sur cesso do planejamento administrativo e financeiro e, como tal, do orçamento, depende em grande parte da qualida de do pessoal recrutado para êsse fim, o qual deverá possuir conhecimento de administração pública, experiência em trabalhos administrativos, possuir capa cidade de julgamento, capacidade de análise etc.
Uma das mais interessantes conquis tas no terreno da administração públi ca que se observa nos E. U. A., nestes últimos anos, é o estabelecimento de órgãos ou serviços de Estado-Maior (Staffs), junto às chefias das reparti ções públicas, aliás como há muito já havia nas grandes emprêsas privadas. Êstes serviços possuem pessoal altamen te especializado no assunto a que a re partição se destina e a sua missão prin cipal consiste em realizar estudos e pes quisas sôbre a sua respectiva organiza' ção administrativa, sôbre as atividades do pessoal que a compõe, material, equi pamento etc., bem como lhes compete a formulação do programa de operações dessas mesmas repartições.
Todavia, convém deixar claro que os órgãos de Estado-Maior mantêm íntimo e constante contacto com os órgãos de hnha e com êles muitás vezes se con fundem.
Para a elaboração de qualquer pro grama concernente a essas repartições, grande número de reuniões, do típo "me sa redonda", são realizadas.
Essas reuniões se iniciam com os gru-
pos de funcionário.s dc ordem puramen te executiva, liderados pelos seus che fes imedíato.s, continuando com os gru pos de chefes de seção, de chefes de divisão, de Mini.stros de Estado etc., e gnipos rhistoí;, em que toma parte pes soal especializado e não-cspeciaiizado, de diferentes po-sições hierárquicas.
Assim, o órgão oncarregado da elabo ração do orçamento dos E. U. A. é con siderado pelas suas atribuições um ór gão de Estado-Maior; fica situado junto à Presidência da República e a ela di retamente subordinado, sendo os suas funções:
a) assistir o Presidente na preparação do orçamento e na formulação do programa fiscal do governo;
b) supervisionar e controlar a admi nistração do orçamento;
c) proceder pesquisas no sentido de melhorar e desenvolver cs planos de gerência administrativa e con trolar o executivo e repartições subordinadas sôbre os métodos a seguirem para a racionalização de ■ sua organização e execução dos serviços.
Planejamento do programa orçamentário
Ao ser planejado o programa orça mentário, deve-se ter em conta o se guinte:
1) o objetivo a ser cumprido, isto é, o que deve ser feito?
2) quem fará o trabalho?
3) onde será feito?
4) por que será feito?
5) como será feito?
6) quando será feito?
7) qual é o custo?
8) como será financiado?
Tôdas estas questões comportam um sem número de outras paralelas; tudo de pende do caso que se tem em vista.
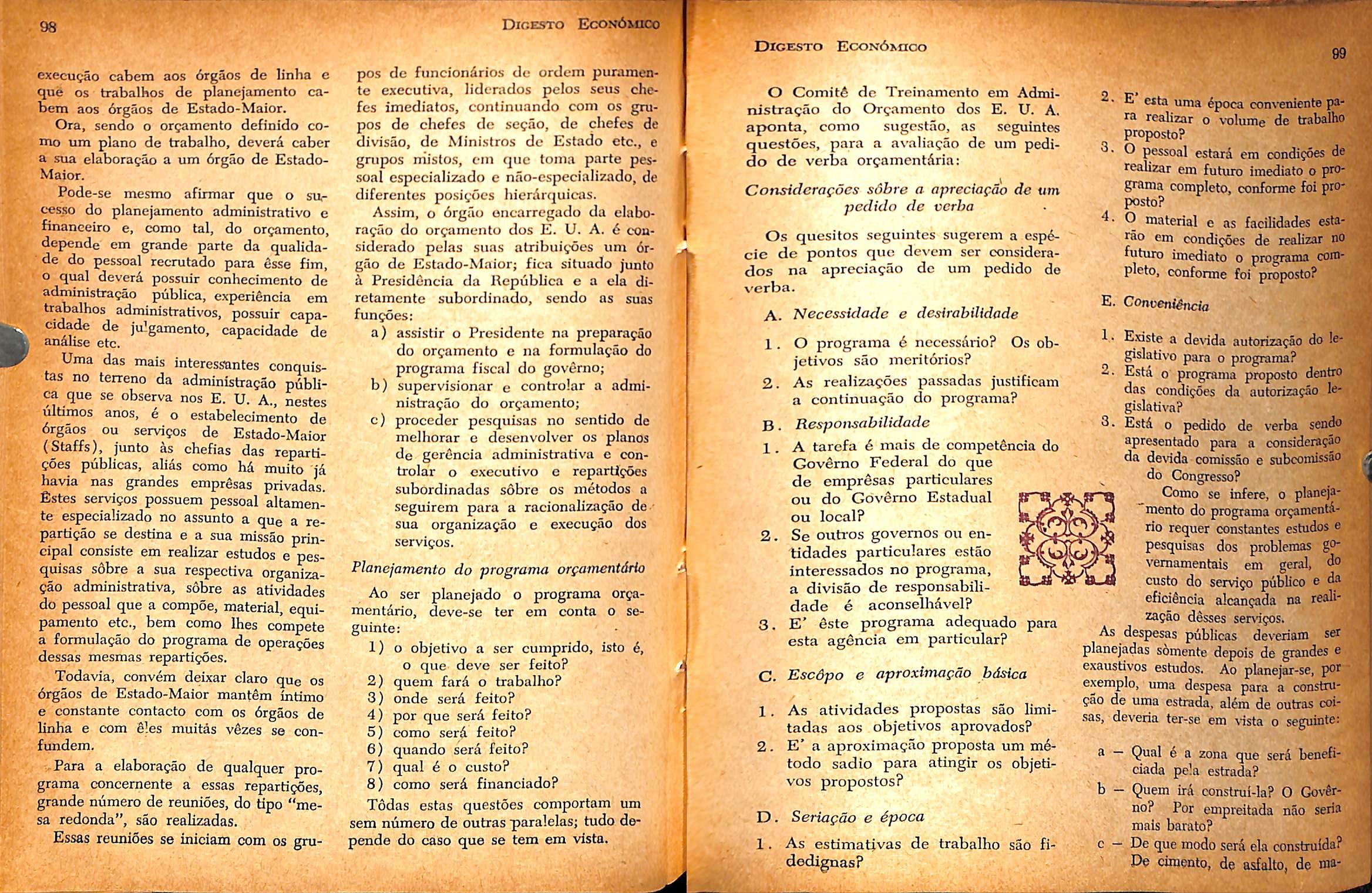
O Comitê dc Treinamento em Admi nistração do Orçamento dos E. U. A, aponta, como sugestão, as seguintes questões, para a a\'alíação de um pedi do de verba orçamentária:
Considerações sôbre a apreciação de «m pedido de verba
Os quesitos seguintes sugerem a espé cie de pontos que de\'em ser considera dos na apreciação dc um pedido de verba.
A. Necessidade e desirabilidade
1. O programa é necessário? Os ob jetivos são meritórios?
2. As realizações passadas justificam a continuação do programa?
B. Responsabilidade
1. A tarefa é mais de competência do Governo Federal do que de emprêsas particulares ou do Govêmo Estadual ou local?
2. Se outi-os governos ou en tidades particulares estão interessados no programa, a divisão de responsabili dade é aconselhável?
3. E' êste programa adequado para esta agência em particular?
C. Escôpo e aproximação básica
1, As atividades propostas são limi tadas aos objetivos aprovados?
2. E' a aproximação proposta um mé todo sadio para atingir os objeti vos propostos?
D. Serújção e época
1. As estimativas de trabalho são fi dedignas?
E esta uma época conveniente pa^ realizar o volume de trabalho proposto?
3. O pessoal estará em condições de realizar em futuro imediato o pro grama completo, conforme foi pro posto?
O material e as facilidades esta rão em condições de realizar no futuro imediato o programa com pleto, conforme foi proposto?
E. Conveniência
!■ Existe a devida autorização do le gislativo para o programa?
2. Está o programa proposto dentro das condições da autorização le gislativa?
3. Está o pedido de verba sendo apresentado para a consideração da derida comissão e subcomissão do Congresso?
Como se infere, o planeja mento do programa orçamentá rio requer constantes estudos e pesquisas dos problemas vemamentais em geral, do custo do serviço público e da eficiência alcançada na reali zação desses seniços.
As despesas públicas deveriam ser planejadas sòmente depois de grandes e exaustivos estudos. Ao planejar-se, por exemplo, uma despesa para a constru ção de uma estrada, além de outras coi sas, deveria ter-se em risla o seguinte:
a — Qual é a zona que será benefi ciada peía estrada?
b - Quem irá construi-la? O Govêrno? Por empreitada não seria mais barato?
c — De que modo será ela construída? Pe ciraçnto, d© asfalto, de rai-
cadame, ou, simplesmente, dc terra batida?
d — Suponhamos que a verba dispo nível para a construção seja pe quena. Devemos decidir logo pe la forma mais barata?
- as concluímos, após estudos, que as despesas de conservação dessa estrada nos anos seguintes seria muito grande.
5* .^sssas despesas de conservação, nao seria mais econômico construir-se essa mesma estrada de cimento ou de macadame?
Venbcaríamos, depois, que a verba é insuficiente para a construção da estra da de cimento ou macadame. Mas se usássemos essa verba disponível e conse^guissemos mais numerário a crédito nao seria mais barato, em última análi se, construirmos uma estrada mais du radoura e que melhor pudesse atender as necessidades do tráfego?
E, assim por diante, muitas conjeturas se poderiam fazer sôbre o caso em apreço.
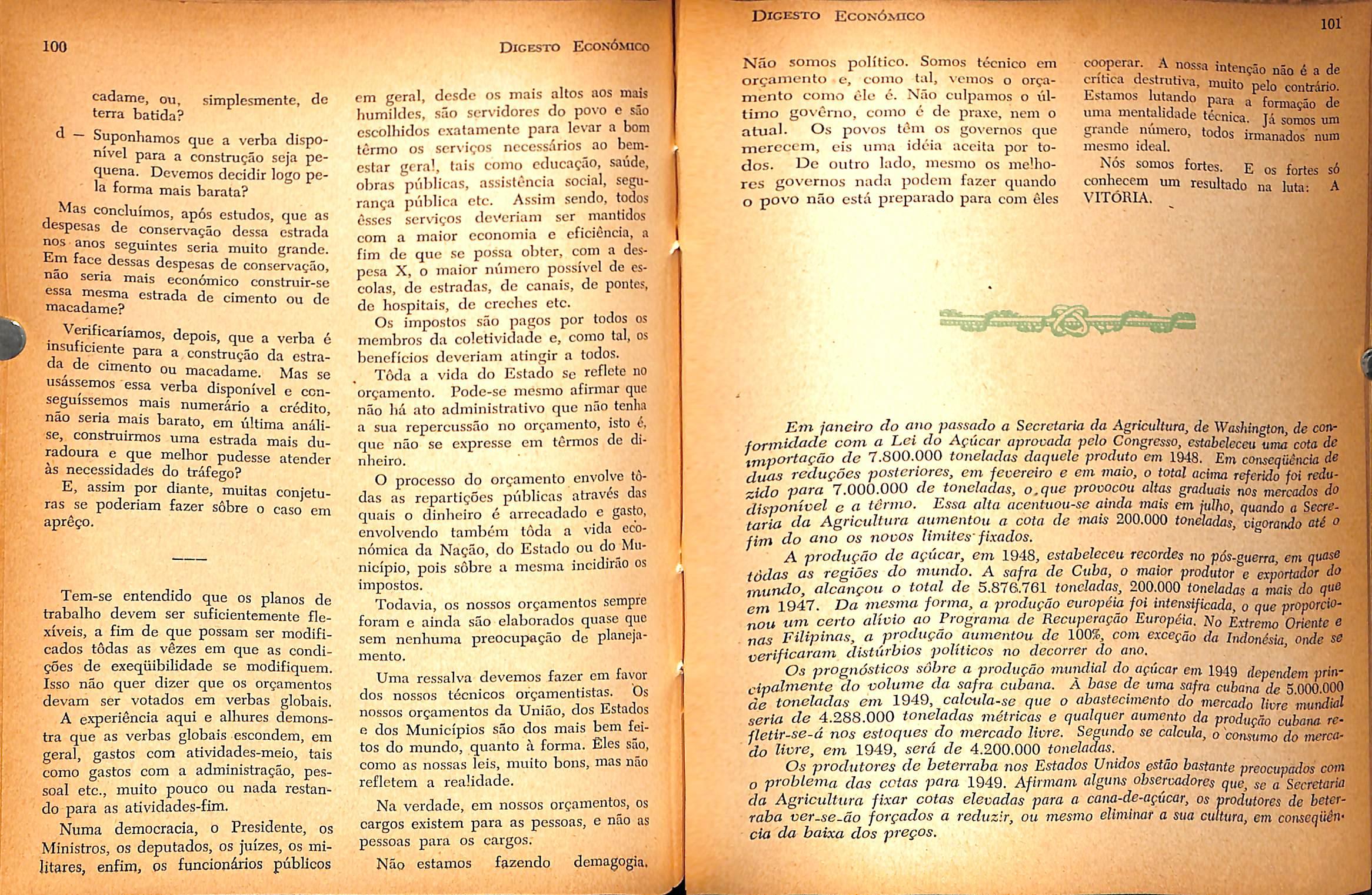
Tem-se entendido que os planos de trabalho devem ser suficientemente fle xíveis, a fim de que possam ser modifi cados tôdas as vezes em que as condi ções de exeqüibilidade se modifiquem. Isso não quer dizer que os orçamentos devam ser votados em verbas globais.
A experiência aqui e alhures demons tra que as verbas globais escondem, em geral, gastos com atividades-meio, tais como gastos com a administração, pes soal etc., muito pouco ou nada restan do para as atividades-fim.
Numa democracia, o Presidente, os Ministros, os deputados, os juizes, os mi litares, enfim, os funcionários públicos
Dicesto Econômico
em geral, desde os mais altos aos mais humildes, são servidores do povo e são cscoliiidos exatamente para levar a bom termo os scr\Íços necessários ao bemestar geral, tais como educação, saúde, obras públicas, assistência social, segu rança pública etc. Assim sendo, todos ê.sscs serviços dcVcriam ser mantidos com a maior economia e eficiência, a fim de que se possa obter, com a des pesa X, o maior número possível de es colas, de estradas, de canais, de pontes, de hospitais, de creches etc.
Os impostos são pagos por todos os membros da coletividade e, como tal, os benefícios deveriam atingir a todos.
Tòda a vida do Estado se reflete no orçamento. Pode-se mesmo afirmar que não há ato administrativo que não tenha a sua repercussão no orçamento, isto é, que não se expresse em termos de di nheiro.
O processo do orçamento envolve tô das as repartições públicas através das quais o dinheiro é arrecadado e gasto, envolvendo também toda a vida eco nômica da Nação, do Estado ou do Mu nicípio, pois sobre a mesma incidirão os impostos.
Todavia, os nossos orçamentos sempre foram e ainda são elaborados quase que sem nenhuma preocupação dc planeja mento.
Uma re.ssalva devemos fazer em favor dos nossos técnicos orçamentistas. Os nossos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios são dos mais bem fei tos do mundo, quanto à forma. Êles são, como as nossas leis, muito bons, mas não refletem a realidade.
Na verdade, em nossos orçamentos, cs cargos existem para as pessoas, e não as pessoas para os cargos.
Não estamos fazendo demagogia.
Não somos político. Somos técnico em orçamento c, como tal, vemos o orça mento como êle c. Não culpamos o iiltimo govêmo, como é de praxe, nem o atual. Os po\'os têm os go\'ernos que merecem, eis inna idéia aceita por to dos. Oc outro lado, mesmo os melho res governos nada podem fazer quando o povo não está preparado para com êles
cooperar A nossa intenção não é a de cnhca dcslruliva. muito pelo contrário. Estamos lutando para a formação de uma mentalidade técnica. Já somos um grande riuniero. todos irmanados num mesmo ideal.
Nós somos fortes. E os fortes só
na luta: A
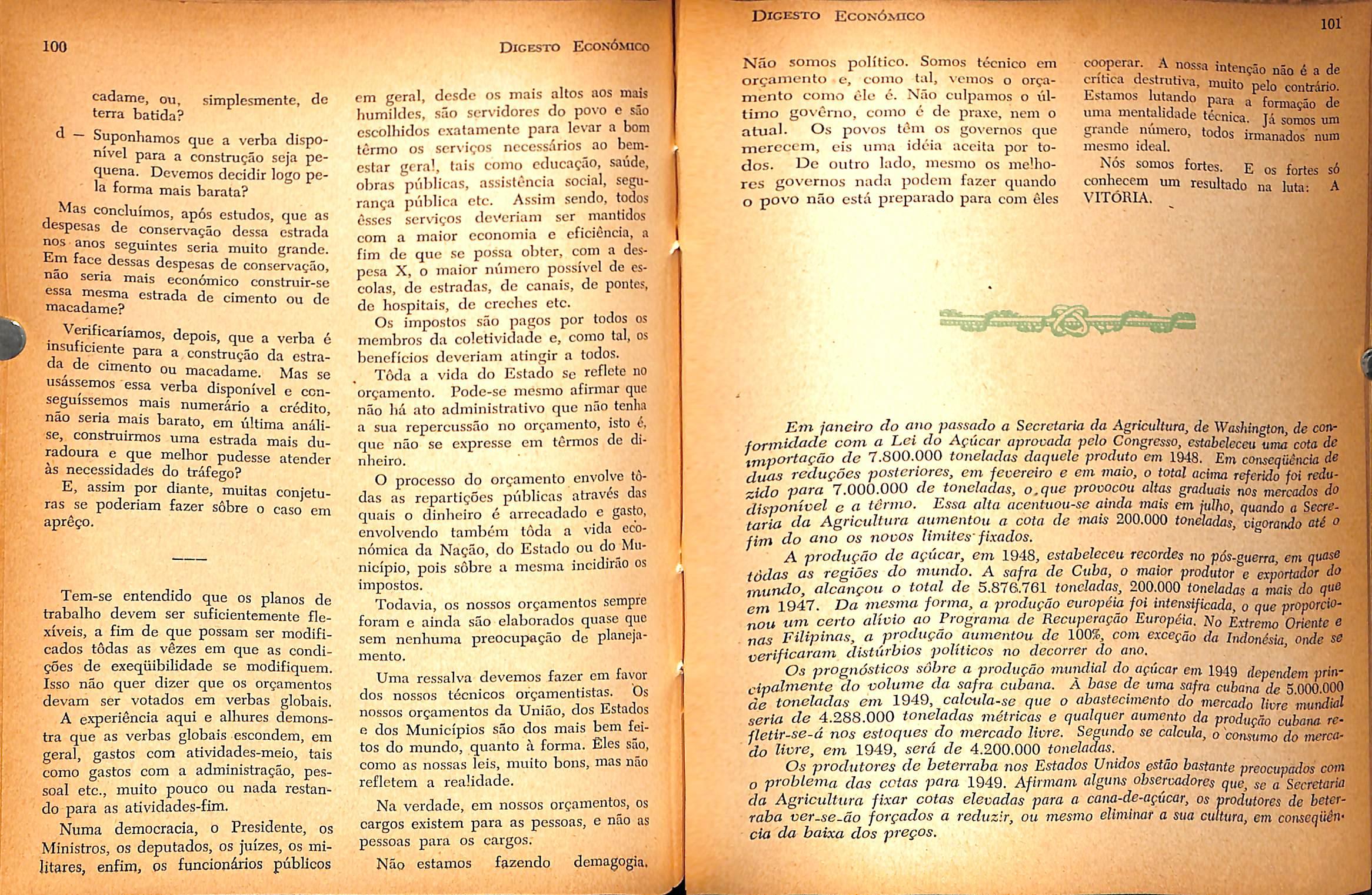
Em janeiro do ano passado a Secretaria da Agricultura, de Washington, dc coniennidade com a Lei do Açxicar aprovada pelo Congresso, estabeleceu uma cota de |j irnp<^^Çdo de 7.800.000 toneladas daquele produto cm 1948. Em conseqüência de J duas reduções posteriores, em fevereiro e cm maio, o total acima referido foi redu zido pora 7.000.000 de toneladas, o,que provocou altas graduais nos mercados do 'disponível c <i termo. Essa alta acentuou-se ainda mais eni julho, quando a Secre taria da Agricultura aumentou a cota de mais 200.000 toneladas, viaorando oté o fim do ano os novos limites fixados.
A produção dc açúcar, em 1948, estabeleceu recordes no pós-guerra, em quase tôdas as regiões do mundo. A safra de Cuba, o maior produtor e exportador do mundo, alcançou o total de 5.876.761 toneladas, 200.000 toneladas a mais do que em 1947. Da mesma forma, a produção européia foi intensificada, o que proporciO' nou um certo alívio ao Programa de Recuperação Extropóia. No Extremo Oriente e nas Filipinas, a produção aumentou de 100%, com exceção da Indonésia oixde se verificaram disttírbios políticos no decorrer do ano. '
Os prognósticos sôbre a produção mundial do açúcar cm 1949 dependem prin' cipalmente do volume da safra cubana. Â base de unui safra cubana dc 5.000.000 de toneladas em 1949, calcula-se que o abastecimento do mercado livre mundial seria de 4.288.000 toneladas métricas e qualquer aumento da produção cubam refletir-se-á nos estoques do mercado livre. Segundo se calcula, o consxmw do merca do livre, em 1949, será de 4.200.000 toneladas.
Os produtores de beterraba nos Estados Unidos estão bastante preocupados com o problema das cotas para 1949. Afirmam alguns observadores que, se a Secretaria da Agricultura fixar cotas elevadas para a cana-de-açúcar, os nrodutores de beter raba ver.se-ão forçados a reduzir, ou mesmo eliminar a sua cultura, em conseqüên cia da baixa dos preços.

Depois dos acordos...
esde junho de 1947, quando cessou o último prazo para a prorroga ção dos acordos de Washington, o proble ma da borracha brasilei. ra caiu em nova fase. ai em diante, estávamos sem o regime e preço estável e sem mercados certos para colocar os excedentes do consumo nacional de borracha, até então absorvidos pelos Estados Unidos. A produção aos seringais se vinha mantendo em ní- ■ veis regulares, chegando a 30 mil toneíoA® ® Em redação a 1047, nada havia a temer. E,realmente, nesse ano a safra ultrapassou às expecta tivas, atingindo 33 mil toneladas. Mas enquanto isso acontecia, a indústria na cional, ainda com precário desenvolvi mento, vinha empregando — tomada pa ra cálculo a sua média de emprego des sa matéria-prima nos últimos cinco anos — aproximadamente 12 mil toneladas. Os excedentes eram enormes. Como vendêlos no mercado internacional, se os se ringais do Ceilão, Sumatra, Malásia, Java, Singapura e Boméu estavam nova mente .sendo trabalhados em grande es cala e sua produção retomava, em pou co tempo, aos custos e níveis de antes da guerra? As plantações do Oriente já apresentavam um volume de produção, em 1947, de 1.069.000 toneladas, com tendências a uma rápida ampliação. Por sua vez, as fábricas de borracha sintéti ca anunciavam uma produção de mais de meio milhão de toneladas.
A terminação da vigência dos acordos de Washington, antes do mais, correspon dia a um problema de fuga de merca dos. Mas não só isso; havia, igualmente, a ameaça da queda dos preços, que ar rastaria a Amazônia a um novo e grande período de depressão econômica.
Nossa borracha, tem um custo de produção elevadíssimo, não apenas por ser extraída de seringais silvestres, de longas "estradas" perdidas na floresta e às vêzcs cm áreas de charco, mas tam bém devido ao custo das mercadorias e utilidades indispensáveis à manutenção do seringueiro e sua família. No corpo de um documento oferecido à apreciação dos membros da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington pelas Asso ciações Comerciais do Pará e Amazonas ("Fundamentos de uma Proposta de Re. visão das Atuais Condições de Produção de Borracha na Amazônia", dezembro de 1943) vêm uns capítulos sobre o pa drão de vida dos seringueiros, particu larmente de sua capacidade aquisitiva face ao nível do custo de vida na re gião, em várias épocas. A gente observa, no documento, que os preços pagos à borracha, nesse ano de 1943, não davam para cobrir sequer o seu custo de produ. ção, E de lá para cá a situação só fez piorar. O custo das mercadorias, das uti lidades e serviços subiu assustadoramen te, sem se acompanhar de uma elevação paralela, proporcional,-na cotação da bor racha. Paga aos preços de 1947, a pro dução da Amazônia era claramente de ficitária. Em tais condições, como admi tir a redução nos preços da borracha, para dar-lhe saída nos mercados interna-

cionais, em regime de competição com as gomas do Oriente e com os sintéticos?
Borracha a preços artificiais
Nesse pé do problema, surge na Câ mara dos Deputados a medida "salva dora". Era um projeto de lei sustentan do artificialmente os preços da borraclm à razão dc Cr$ 17,70, pagos êm Ma naus, e Cr$ 18,00 em Belém — base vigorante na última etapa dos acordos de Washington. A manutenção dêsse preço fi.xo seria feita à conta da dispofíríOTir^fim nprlM7Ír1r> r\n,. ÍA-
A».-»'nibilidade financeira deduzida, por for ça de dispositivo constitucional, da re ceita tributária da União, dos Estados e Municípios da Amazônia, para uma de nominada "valorização" econômica des sa região.
O projeto teve uma rápida elaboração legislativa. Na Câmara raros se lhe Opuseram. As bancadas da Amazônia lu tavam em blocos na sua fundamentação. Ninguém descobria outia saída para o problema da borracha. Argumentava-se com a necessidade de manter de qual quer jeito os preços altos do produto, porque sem isso haveria o colapso, a paralisação das atividades na região, a mutilação da sua economia e o afunda mento do povo na miséria. Que seria da Amazônia com a borracha sem preços?
Os que se opunham ao projeto não confundiam o problema da borracha com os problemas da Amazônia. Êsses eram muito mais amplos. Um rebanho bo vino estimado em 1 milhão de reses, no Marajó, Rio Branco, Baixo Amazonas e outras regiões criadoras menores, ali es tava pedindo assistência, desfalcado ano a ano pelas inundações do rio e as epizootias. A juta, uma cultura antes promis sora, começava a perder seus volumes de produção. E os minérios e o petróleo do Amapá? E o rio sem transportes? E a
escassez e o atraso da lavoura? E as ci dades do interior, sem conforto, pobretonas, apresentando seus tapiris em ruí nas? Isso sim, dizia-se, eram problemas — e que êrro abandoná-los! E como ar gumento maior, Icvanlava-se o fato de a proteção à borracha corresponder aos interesses apenas de 50 mil seringueiros, ou seja, de 3,3% do global da população local.
^ías as bancadas da Amazôma eram uma voz de conjunto na defesa do pri%i^gio à borracha. Isso dava uma côr de maior verdade aos seus argumentos. Depois, há muito a gente ouve afirmar que certas regiões tem os seus produtosreis, fora dos quais suas populações não encontram elementos econômicos para subsistir. E* o caso de São Paulo com o café, de Pernambuco com o açú car, do Piauí com a carnaúba, do Mara nhão com o babaçu. E, naturahnente, da Amazônia com a borracha. Se èsse fato não corresponde à realidade, falta proyá-lo.
Dêsse modo, não hou\'e obstáculos sé rios à marcha legislativa do projeto. E logo a 18 de setembro de 1947 êle se transformava na lei n. 86, devidamente sancionada pelo Presidente da República.
A safra dos seringais é paga em "vdes"
A nova lei obrigava o Banco de Cré dito da Borracha a adquirir todo o vo lume das safras, até 1950, sendo-íhe pro metidos os elementos financeiros indis pensáveis à execução dessa políüea de equilíbrio da economia da bonacha. No seu art. 10 a lei estabelecia:
Para atender ao financiamento dos excedentes do constimo nacional de borracha, com a sustentação dos res-
pectivos preços, o govêmo solicitará, quando necessário, atribuição dos competentes recursos financeiros, den tro do plano que fôr organizado pela Comissão Parlamentar do Plano de Valorização Econômica da Amazô nia."
I
Mas nem o govêmo solicitou, cm tem po hábil, os créditos necessários, nem a Comissão Parlamentar elaborou qualquer plano, que sua finalidade específica de terminava. O Banco da Borracha se viu então obrigado a executar sozinho a lei empurrado a adquirir a totalidade da pro dução dos seringais, sob o novo regime de preços. Foi invertendo nessas opera ções todos os seus recursos, até que o valor das compras de borracha chegou a perto de - - • 200 milhões de cruzeiros, mui to superior ao próprio capi tal fundado do Banco. Sa- ^be-se que foram pagas ao pre ço protecionista da lei até bor rachas contrabandeadas dos se ringais do Pem, Colômbia e Bolívia Repetia-se, com alteração na posição dos protagonistas, o fato acontecido durante a guerra, quando o Javari, o Içá, o Japurá e o Madeira constituíram as grandes rotas de contrabando de borracha bra sileira, para venda às "corporações" dêsses países vizinhos, a preços que varia vam entre 20 e 35 cruzeiros cada quilo Agora, contudo, as coisas mudavam de lugar. Enquanto a borracha de lá, sujei ta às tendências do mercado internacio nal, baixou para 27 cents, eqüivalendo em nossa moeda, a menos de 6 cruzeiros o produto nacional é pago a 18 cruzeiros. E como os rios são magníficos instru mentos de contacto (no Javari, em 10 niinutos de canoa s© sai de um seringal
do Pem c se aporta num seringal do Brasil) e, ademais, como a região não comporta fiscalização alfandegária regiilar, 6 claro que os contrabandos de bor racha iriam existir cui grande csca'a. Não foi à-toa que em 1947, na \'igência da lei 86, apresentou a Amazônia a sua maior safra dc borracha desde 1918 33 mil toneladas — volume que nem h época do funcionamento do SESP, coui . seu programa dc assistência médica e ' medicamentosa aos extratores, nem com os serviços especiais do SAVA, da CAETA, do DNI, com os "prêmios" nos seringalistas, com a SNAPP ser\'ida por navios americanos, com a espalhafatosa "bataUia da borracha" cm plena execir ção, foi possível obter.
De janeiro de 1948, depois de aplicar suas reservas c mais 30 milhões de cruzeiros tomados dc empréstimo ao Banco do ' Brasil e ao Tesouro Nacional, o ' Banco da Borracha passou n pagar em "vales" tôda a borra, cha recebida cm consignação dos seringais, à espera de rcsgatá-Ios com os recursos prometidos na lei 86. Até abril os "vales" já atingiam uma soma de 75 milliões de cruzeiros, pagos na ordem seguinte:
Borracha recebida nos ar mazéns de Manaus 39.000.000 Idem em Rio Branco (Acre) 4.000.000 Idem em Porto Velho (Guaporé) .i ,. 6.000.000 Idem em Belém '26.000.000
A essa altura dos acontecimentos, mo vimentavam-se o comércio, associações de classe, os seringalislas; no Legislati vo alguns deputados do extremo-norte se digladiavam acerca dos compromissos e da política adotada pelo Banco; em Manaus reunia-se um Congresso de emer-


gência para debater a situação. O pro blema da borracha, figurado como o pro blema estrutural da Amazônia, criara em certos grupos locais um estado de alarma, que se procurava apresentar co mo fenômeno generalizado na região.
Não demorou muito, o govêmo deu uma saída às dificuldades do Banco, fornecendo-lhe emprestados, através do Te souro Nacional e do Banco do Brasil, mais 80 milhões de cmzeiros, que foram aplicados no resgate dos "vales". Apa rentemente, a debacle desaparecera. Pa ra o resto da safra de 1948 e a de 1949, o govêmo remeteu ao Legislativo uma mensagem solicitando abertura de um crédito especial de 150 milhões de cru zeiros, imediatamente concedido.
Perspectivas da indústria na absorção da borracha
Para certos observadores superficiais, é difícil predizer até onde ainda vai marchar o problema da borracha. De imediato, o que lhes ocorre é a neces sidade de colocar à disposição do Ban co, à época das safras, recursos financei ros suficientes para manter sob alto ní vel de preços — preços artificiais, embo ra — a produção dos seringais.
Ora, a realidade é que a tentativa ini cial da política protecionista, desenvol vida pelo Banco em relação às safras de 1947 e 1948, trouxe resultados clara mente desastrosos. Na experiência o Banco queimou a maioria de suas reser vas e acumulou grandes estoques de bor racha, que passaram a funcionar como instrumento de desvalorização do produ to cru dos seringais. Diz-se que só em borracha estocada o Banco tem hoje aproximadamente 300 milhões de cruzei ros. Que destino vai dar a essa reser va é impossível saber. Vendê-la a pre
ços baixos no mercado internacional? Destrui-la? Mantê-la como reserva estra tégica?
Cabç não esquecer que êsse estoque se destina a crescer de volume ano a ano. pela acumulação sucessiva dos exceden tes do consumo nacional, que o Banco obrigatòriamente reterá. Não dispomos, positivamente, de um parque industrial com capacidade para utilizar tôda a "hevea" cortada e defumada pelos ca boclos da Amazônia. Nem devemos es perar que as fábricas do país, de futuro, se tomem um elemento de estabilidade da economia da borracha, pagando tôda a safra dos seringais silvestres a pre ços e.xcepcionais.
E' evidente que a produção nacional de artefatos de borracha está sendo pe sadamente sobrecarregada pelo custo da matéria-prima. O Banco paga a bor racha bruta a 17 cruzeiros. Onera o pro duto com os gastos de beneficiamento, calculados em 1 crazeiro por quilo. No beneficiamento, há uma quebra de 2(y5, que corresponde a 4 cruzeiros cada qui lo. Depois, paga de transporte, dos por tos do norte aos do sul, cerca de 1 cmzeiro. E' assim que a borracha sai ao Banco à conta de 23 cruzeiros, mas está sendo entregue às fábricas aproximada mente a 27 cruzeiros cada quilo. En quanto isso, a borracha natural'do Orien te é vendida livremente a 6 cruzeiros. Uma diferença impressionante, como se verifica.
Até que ponto a nossa indústria de ar tefatos continuará absorvendo o produto controlado pelo Banco, a preços várias vezes superior ao vigorante no mercado internacional, é difícil dizê-lo. Tudo indica que êsses preços não serão susten tados. Ainda em meados do ano passa do, pela Portaria n. 102, a Comissão
Executiva de Defesa da Borracha deli berou regular pela Bôlsa dc Nova York a cotação de qualquer bonacha adquirida ao Banco, quando destinada às manufa turas de exportação. Essa concessão, bem examinada, representa a brecha inicial na política de preços artificiais que a lei 86 tão impensadamente assegurou. Mais ainda, des'ocará o preço-base da procu ra de borracha, de 27 cruzeiros para o da cotação dos mercados internacionais.
Vem aí o competidor estrangeiro
Na reahdade, o problema da borracha
■L não está sendo colocado noS' seus deviV dos termos. Confia-se demasiadamente na possibilidade de a indústria nacional de artefatos passar a consumir todo o volume das safras da Amazônia. Que para isso só basta essa indústria desen volver-se um pouco mais. O otimismo não procede. A matéria-prima dos seringais car rega no seu bojo um dos maiores obstáculos à ampliação e desen volvimento da indústria nacio nal de artefatos, que é preci samente o seu custo elevado. Mas essa contradição não está sendo percebida. Outro obstáculo, esse também decisivo, ao aumento do volume da manufatura naeional, são os similares estrangeiros, particularmente americanos, que ano a , ano invadem, em concorrência esmaga dora, o nosso mercado interno. E o que tudo indica é justamente o agrava mento dessa concorrência, a entrada no país, cada vez em maior escala, não só de produtos manufaturados, mas igual mente a invasão da própria matéria-pri ma do Oriente e da borracha sintética. Não temes barreiras alfandegárias para nos proteger dessa investida. Inclusive
as últimas "tabelas de correção" das ta rifas aduaneiras, trazidas dc Genebra, evidentemente não nos defendem. Ao equacionar o problema, raros aten tam convenientemente para a situação dos diversos "campos" interessados na economia da borracha. Nascem disso, na maioria dos casos, os desvios c o erro das fórmulas ale agora empregadas para conduzir o problema da borracha e de liberar sobre a crise da sua conjuntura atual.
Que valem outras economias lá dc fo ra, nossas antagonistas no' mercado in ternacional dc borracha? Que represen tam, nesta altura dos fatos, não só as grandes plantações coloniais dc seringuei ras, ou o grau de avanço técnico da in dústria da borracha sintética, mas sobre tudo os seus detentorc.s, os homens e as organizações que as mantém e fazem funcionar?
E' certo que o atual movi mento de independência das co lônias do Oriente, de que são exemplos as lutas de libertação da Indonésia e da Malásia, pode criar perspectivas" de amolecimento da competição oriental. A utilização dos seringais, ein algumas áreas, vem sendo submetida a embaraços. Mesmo assim, as estimativas da safra oriental de 1948 acusam 1.500.000 toneladas. E, ade mais, uma coisa está evidente: embora esses seringais possam mudar de donos, embora se processem profundas altera ções na estrutura da economia local, os milhões de seringueiras não perderão por isso sua rentabilidade em "látex" e é provável que os níveis da produção sus tentem seu processo ascendente. Os proventos do negócio reverterão para outras camadas de beneficiários, mas só. No mais, a lavoura de borracha asiática
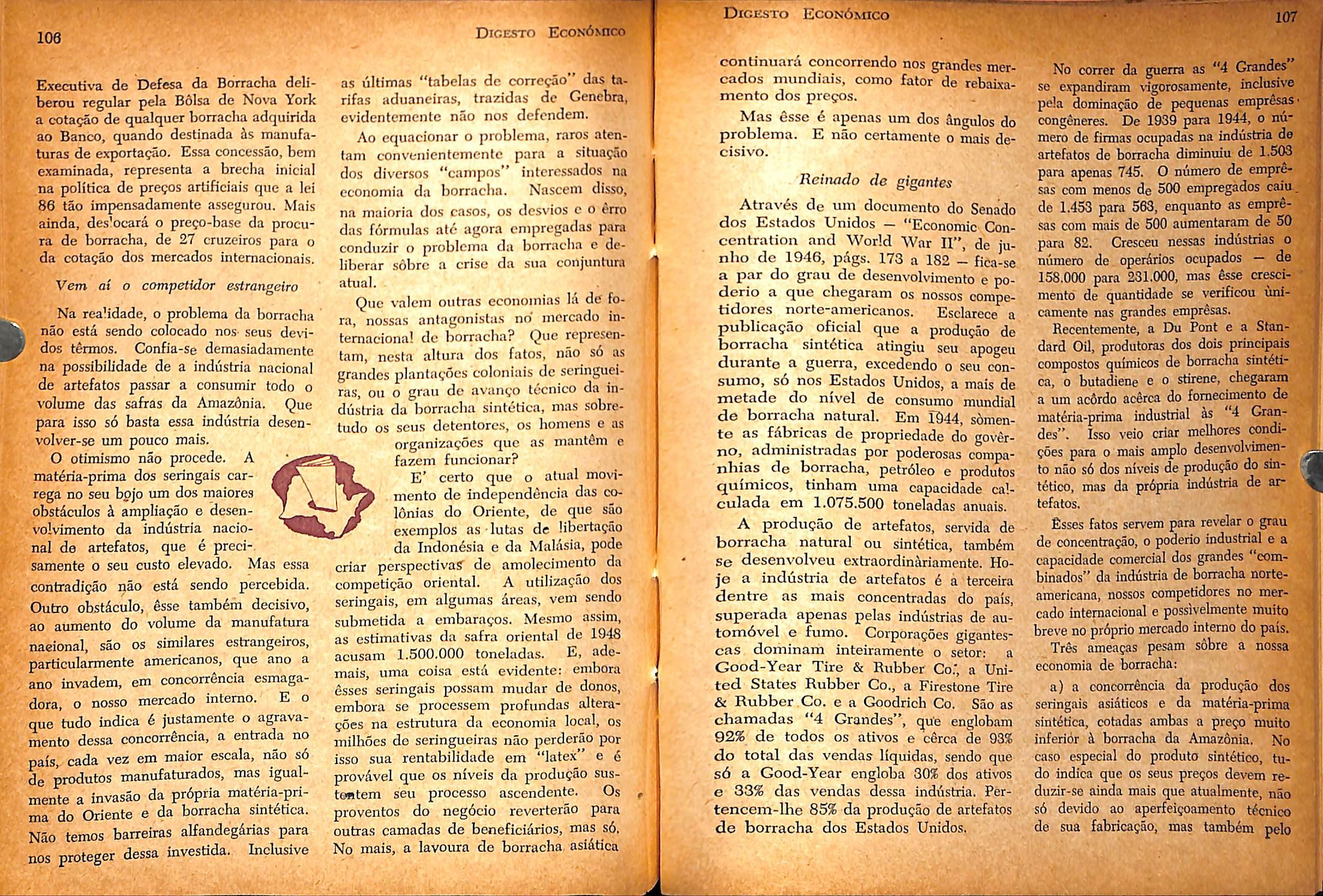
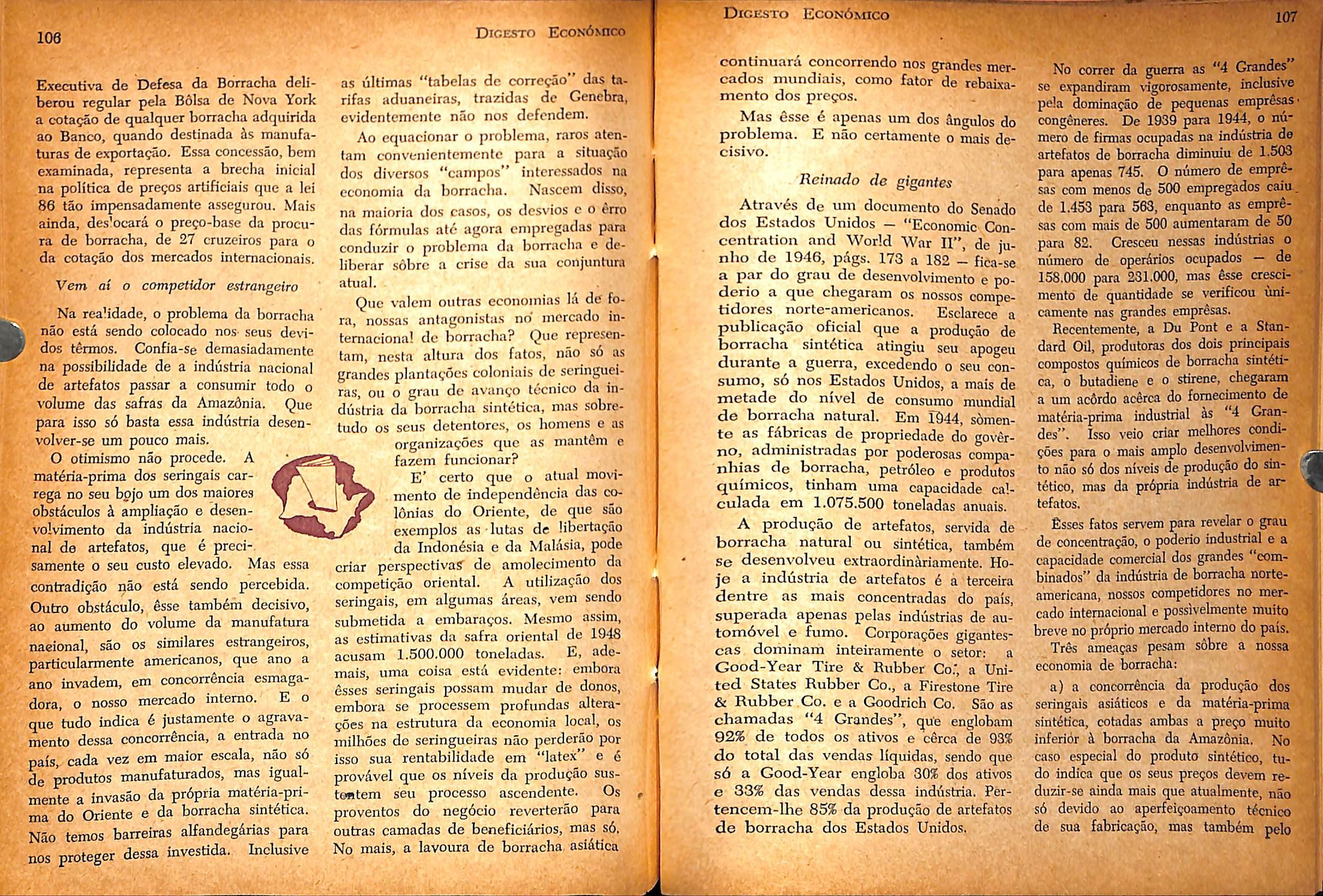
continuará concorrendo nos grandes mer cados mundiais, como fator de rebaixa mento dos preços.
Mas esse é apenas um dos ângulos do problema. E não certamente o mais de cisivo.
Através de um documento do Senado dos Estados Unidos - "Economic Concentration and World War H", de ju nho de 1946, págs. 173 a 182 -1 fica-se a par do grau de desenvolvimento e po derio a que chegaram os nossos compe tidores norte-americanos. Esclarece a publicação oficial que a produção de borracha sintética atingiu seu apogeu
durante a guerra, excedendo o seu con sumo, só nos Estados Unidos, a mais de metade do nível de consumo mundial de borracha natural. Em 1944, sòmente as fábricas de propriedade do gover no, administradas por poderosas compa nhias de borracha, petróleo e produtos químicos, tinham uma capacidade cal culada em 1.075.500 toneladas anuais.
A produção de artefatos, servida de borracha natural ou sintética, também
se desenvolveu extraordinariamente. Ho je a indústria de artefatos é a terceira dentre as mais concentradas do país, superada apenas pelas indústrias de au tomóvel e fumo. Corporações gigantes cas dominam inteiramente o setor: a Good-Year Tire & Rubber Co.', a United States Rubber Co., a Firostone Tire Ô£ Rubber Co. e a Goodrich Co. São as chamadas "4 Grandes", que englobam 92% de todos os ativos e cêrca de 93% do total das vendas líquidas, sendo que só a Good-Year engloba 30% dos ativos e 33% das vendas dessa indústria. Per tencem-lhe 85% da produção de artefatos de borracha dos Estados Unidos.
No correr da guerra as "4 Grandes se expandiram vigorosamente, inclusive pela dominação de pequenas empresascongêneres. De 1939 para 1944, o nu mero de firmas ocupadas na indústria de artefatos de borracha diminuiu de 1.503 para apenas 745. O número de empre sas com menos de 500 empregados caiu. de 1.453 para 563, enquanto as empre sas cora mais de 500 aumentaram de 50 para 82. Cresceu nessas indústrias o número de operários ocupados — de 158.000 para 231.000, mas ésse cresci mento de quantidade se verificou uni camente nas grandes empresas.
Recentemente, a Du Pont e a Stan dard Oil, produtoras dos dois principais compostos químicos de borracha sintéti ca, o butadiene e o stirene, chegaram a um acôrdo acerca do fornecimento de matéria-prima industrial às 4 Gran des". Isso veio criar melhores condi ções para o mais amplo desenx'olvimento não só dos níveis de produção do sin tético, mas da própria indústria de ar tefatos.
Èsses fatos seivem para revelar o grau de concentração, o poderio industrial e a capacidade comercial dos grandes com binados" da indústria de borracha norteamericana, nossos competidores no mer cado internacional e possivelmente muito breve no próprio mercado interno do pais. Três ameaças pesam sôbre a nossa economia de borracha:
a) a concorrência da produção dos seringais asiáticos e da matéria-prima sintética, cotadas ambas a preço muito ínferiór à borracha da Amazônia. No caso especial do produto sintético, tu do indica que os seus preços devem re duzir-se ainda mais que atualmente, não só devido ao aperfeiçoamento técnico de sua fabricação, mas também pelo
aumenlo dos sem volumes de produção; b) esses baixos preços de custo leva rão a indústria nacional de artefatos a se voltar gradualmente para a matériaprima natural ou sintética, chegada do estrangeiro, em prejuízo da goma extraí da dos seringais silvestres da Amazônia. Aliás, o que se sabe (e a própria im prensa do Rio e São Paulo denunciou) é que nos últimos meses de 1948 te mos importado maiores volumes de sin téticos, inclusive com guias de licença da Comissão Executiva da Borracha; c) outra probabilidade é a invasão do nosso mercado interno pela produção manufaturada dos Estados Unidos, que então arruinaria a indústria nacional de artefatos, no pior dos casos fechandolhe as portas. Aqui entra especifica mente o problema das barreiras alfande gárias, que não nos oferecem uma base de defesa satisfatória. Além do mais, a essa altura, é provável que a própria indústria do país — ao menos alguns dos seus grupos mais destacados — não tenha interesse em "resistir" à invasão dos similares ianques. Porque, afinal de
contas, as maiores fôrçns da nossa in dústria dc artefatos — a Cia. CoodYear do Brasil, a Indústria de Pneuniáticos Firestonc S. A. e a PirelH S. A., essa última ligada á General Electric são precisamente braços da Cood-Year e da Firestone norte-americanas, os gi gantes da concorrência mundial do pro duto.
* * sH
Avançou muito o problema da bor racha. Há anos, nos mercados interna cionais dessa matéria-prima, no abaste cimento das indústrias de artefatos de borracha do mundo, os seringais silves tres da Amazônia ocupavam uma posi ção destacada. Hoje esses velhos se ringais nativos, as velhas "estradas" mergulhadas na selva, molhadas ano a ano pela inundação do rio — estradas que nem dão mais "saldo" ao seringuei ro, nem dão grandeza ao "coronel" e ao "barracão" — vão perdendo o seu pôsto de fornecedores do próprio mer cado nacional...
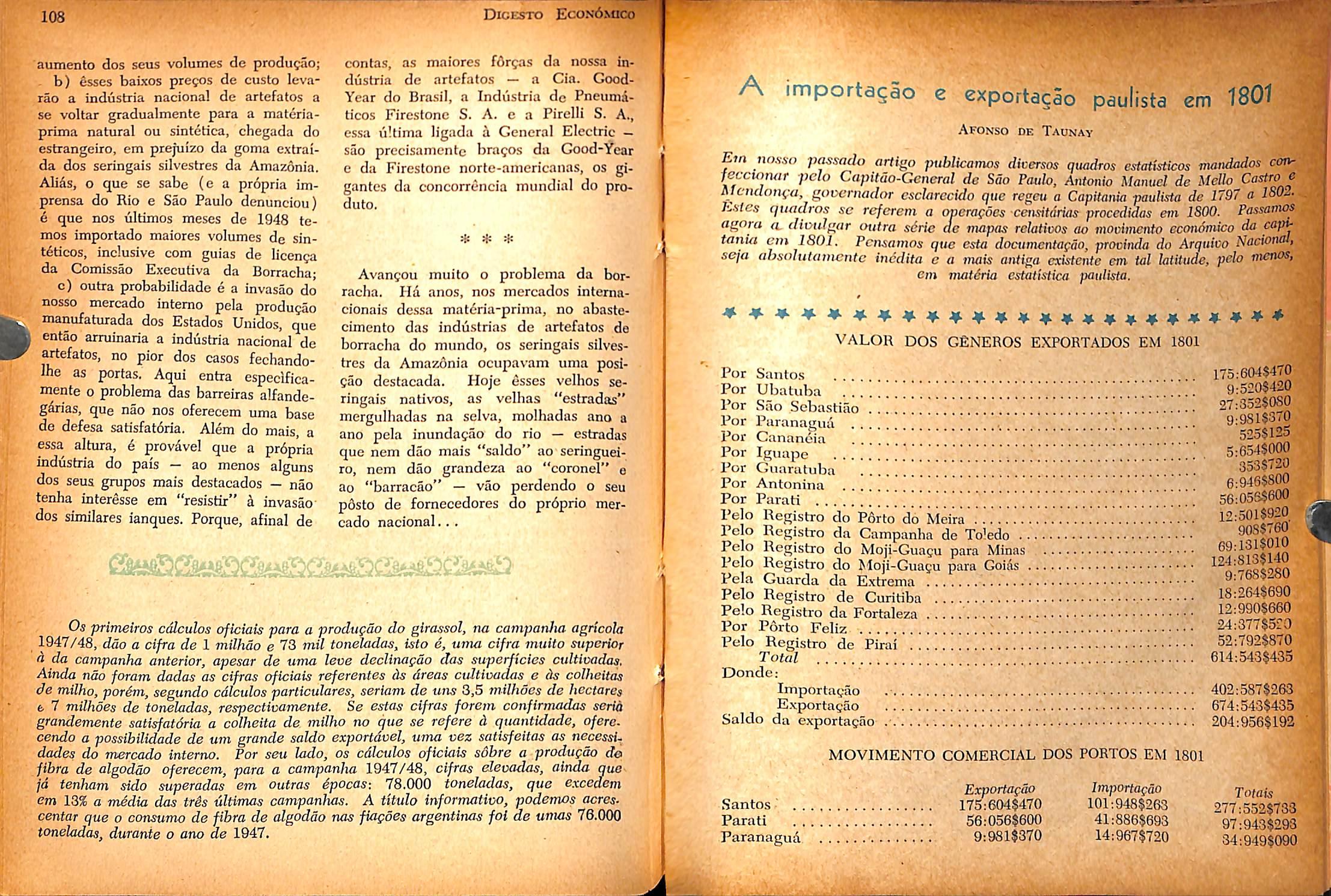
Os primeiros cálculos oficiais para a produção do girassol, na campanha agrícola 1947/48, dão a cifra de 1 milhão e 73 mil toneladas, isto é, uma cifra muito superior à da campanha anterior, apesar de uma leve declinação das superfícies cultivadas. Ainda não foram dadas as cifras oficiais referentes às áreas ciãtivadas e às colheitas de milho, porém, segundo cálculos particulares, seriam de uns 3,5 milhões de hectares e 7 milhões de toneladas, respectivamente. Se estas cifras forem confirmadas seria grandemente satisfatória a colheita de milho no que se refere à quantidade, ofere. cendo a possibilidade de um grande saldo exportável, uma vez satisfeitas as neccssi. dades do mercado interno. Por seu lado, os cálculos oficiais sobre a produção do fibra de algodão oferecem, para a campanha 1947/48, cifras elevadas, ainda que já tenham sido superadas em outras épocas-. 78.000 toneladas, que excedem em 13% a média das três últimas campanhas. A título informativo, podemos acres centar que o consumo de fibra de algodão nas fiações argentinas foi de umas 70.000 toneladas, durante o ano de 1947.
Afonso de Taunay
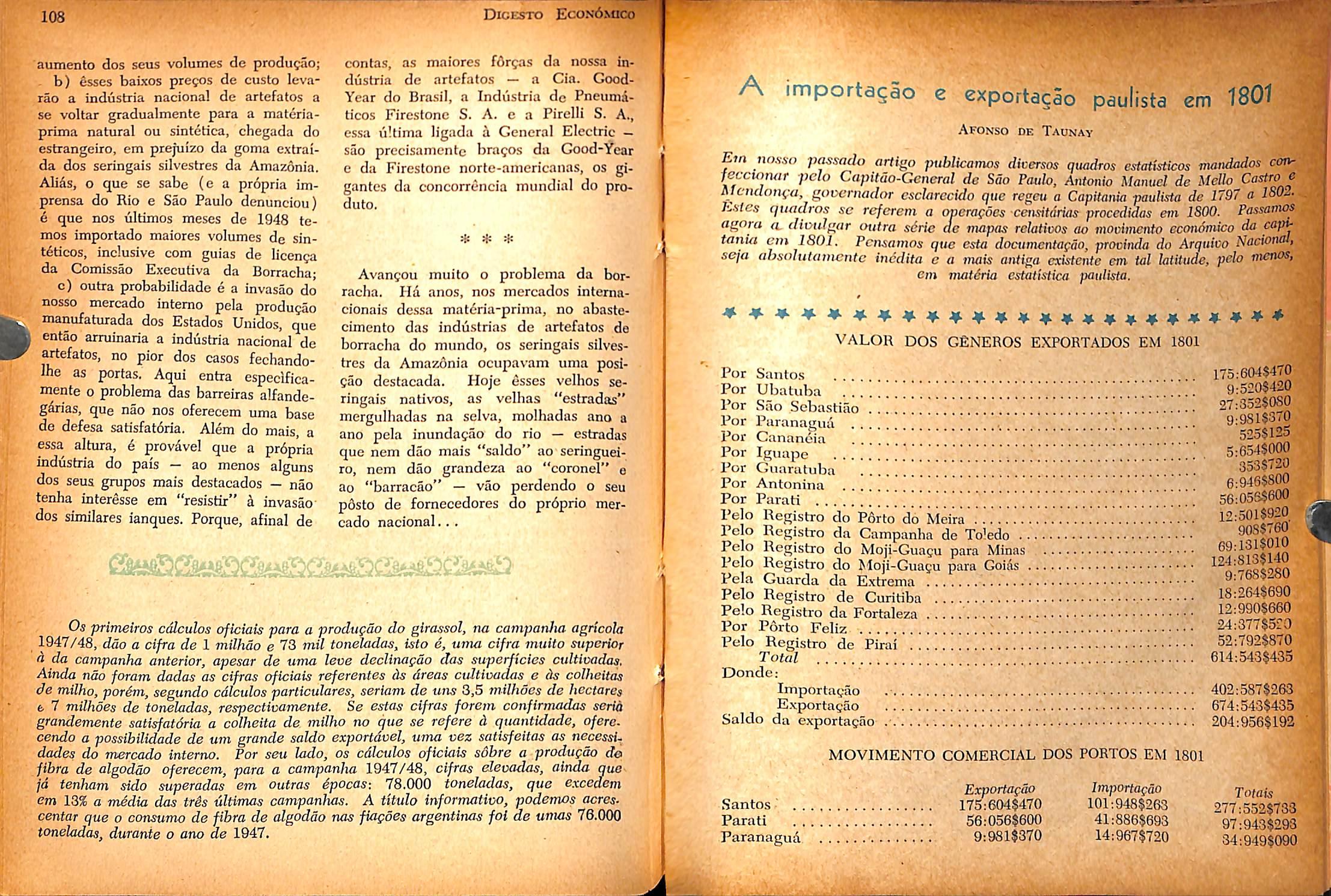
Em nosso passado artigo publicamos diversos quadros estatísticos mandados comr feccxonar pelo Capitão-Gcneral dc São Paulo, Antonio Manuel de Mello Rastro C Mendonça, governador esclarecido que regeu a Capitania iToulista dc 1797 a JSO— 7í.v/c,9 quadros se referem a operações ccnsitârias procedidas em 1800. PassaJMS agora te divulgar outra série cie mapas relativos ao movimento econômico da capi' tanUi em 1801. Pcmamos que esta documentação, provindo do Arquivo Nacional, seja absolutamente inédita e a mais antiga existente em tal latitude, pelo menos, em matéria estatística paulista.
Por Santos 175
Por ubatuba
Por São Sebastião 27:
Por Paranaguá
Por Canancia
Por Iguape
Por Guaratuba |
Antonina
Parati
Pelo Registro do Pôrto dò Meira
Pelo Registro da Campanha de Toledo
Pelo Registro do Moji-Guaçu para Minas .
Pelo Registro do Moji-Guaçu para Goiás 124:
Pela Guarda da Extrema i--- 9:
Pelo Registro de Curitiba :•'•••.
Pelo Registro da Fortaleza
Por Porto Feliz ^ 24:
Pelo Registro de Piraí • • •
Donde:
:52ÜS420 :352S0S0 ;981$370 525S125 :654$000 353ST20 :946$800 .05S.$600 :501$020 90SST60 13I$0I0 813$140 768S280 264$690 990S660 377$5í:0 792$870 543$435 587$263 :543$435 :956$192
Santos • Parati Paranaguá
Iguape
Ubatuba Antonina. ...
Cananéia ...
Guaratuba
São Sebastião
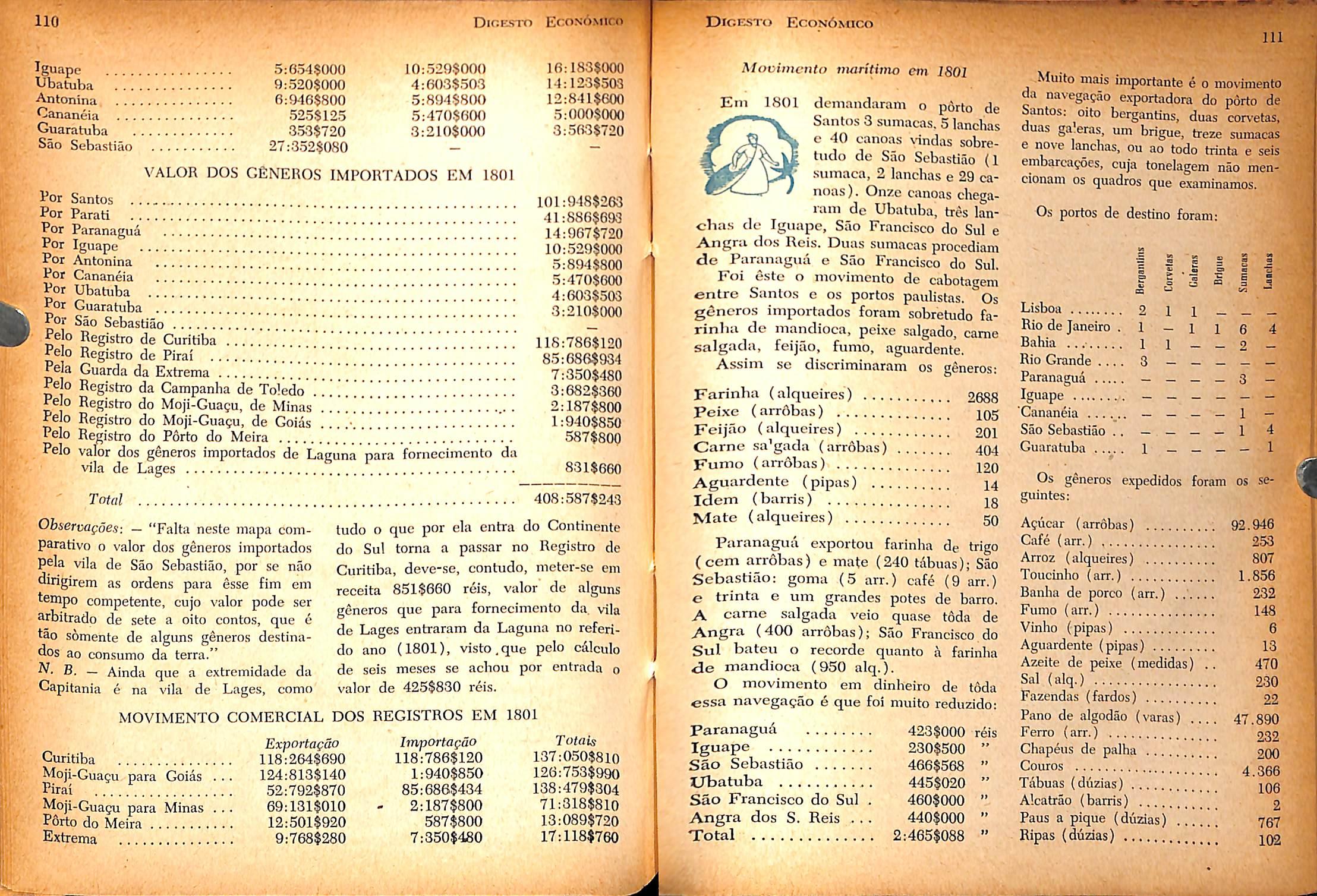
5:G54.$00ü 9:520$000 6:946S800 525SÍ25 35.3$720 27:352Ç080 10:529$00() 4:6()3$503 5:8ÍM$800 5:4705600 3:210$000 16:1835000 14:123$3&3 12:8-ü$600 5:0005000 3:5635720
Tor Santos
Por Parati
Por Paranaguá
Por Iguape
Por Antonina *
Por Cananéia
Por Ubatuba
Por Guaratuba ]
Por São Sebastião
Pelo Registro de Curitiba
Pelo Registro de Piraí
Pela Guarda da Extrema
Pelo Registro da Campanha de Toledo !
Pelo Registro do Moji-Guaçu, de Minas !!!!.! •
Pelo Registro do Moji-Guaçu, de Goiás ...
Pelo Registro do Porto do Meira
Pelo valor dos gêneros importados de Laguna para fornecimento da vila de Lages
Ohsermções: — "Falta neste mapa com parativo o valor dos gêneros importados pela vila de São Sebastião, por se não dirigirem as ordens para êsse fim em tempo competente, cujo valor pode ser arbitrado de sete a oito contos, que é tão somente de alguns gêneros destina dos ao consumo da terra."
N. B. — Ainda que a extremidade da Capitania é na vila de Lages, como
tudo o que por ela entra do Continente do Sul toma a passar no Registro de Curitiba, deve-se, contudo, meter-se em receita 851$660 réis, valor de alguns gêneros que para fornecimento da, vila de Lages entraram da Laguna no referi do ano (1801), visto.que pelo cálculo de seis meses se achou por entrada o valor de 4255830 réis.
MOVIMENTO COMERCIAL DOS REGISTROS EM 1801
Exportação
Curitiba
Moji-Cuaçu para Goiás
Piraí .... ...
Moji-Guaçu para Minas
Pôrto do Meira
Extrema
118:2645690
124:8135140
52:7925870
69:1315010
12:5015920
9:7685280
Importação 118:7865120
1:9405850
85:6865434
2:1875800 5875800
71:3185810
13:0895720 17:1185760
Movimento marítimo em 1801
Em ISOI demandaram o pôrto de Santos 3 sumacas.5lanchas c 40 canoas vindas sobre tudo de São Sebastião (1 sumaca, 2 lanchas e 29 ca noas). Onze canoas chega ram de Ubatuba, três lancha.s clc Igtiape, São Francisco do Sul e Angrti dos Reis. Duas sumacas procediam de Paranaguá e São Francisco do Sul.
Foi este o movimento de cabotagem entre Santos e os portos paulistas. Os gêneros importados foram sobretudo fa rinha de mandioca, peixe salgado, carne salgada, feijão, fumo, aguardente.
Assim se discriminaram os gêneros:
Farinha (alqueires) 2688 peixe (arrôbas) jQg
Feijão (alqueires) £01
Carne salgada (arrôbas) 404
Fumo (arrobas) j20
Aguardente (pipas) 14
Idem (barris) jg
Mate (alqueires) 59
Paranaguá exportou farinha de trigo (cem arrôbas) e mate (240 tábuas); São Sebastião: goma (5 arr.) café (9 arr.) e trinta e um grandes potes de barro. A carne salgada veio quase toda de Angra (400 arrôbas); São Francisco,do Sul bateu o recorde quanto à farinha de mandioca (950 alq.).
O movimento em dinheiro de toda essa navegação é que foi muito reduzido:
Paranaguá 4235000 réis
Iguape 2305500 "
São Sebastião 4665568 "
Ubatuba 4455020 "
São Francisco do Sul . 4605000 "
Angra dos S. Reis ... 4405000 "
Total 2:4655088 "
Muito mais importante é o movimento da navegação e.vportadora do porto de
Santos: oito bergantins, duas corvelas, uas ga.eras, um brigue, treze sumacas e nove lanchas, ou ao todo trinta e seis embarcações, cuja tonelagem não men cionam os quadros que examinamos.
0.S portos de destino foram:
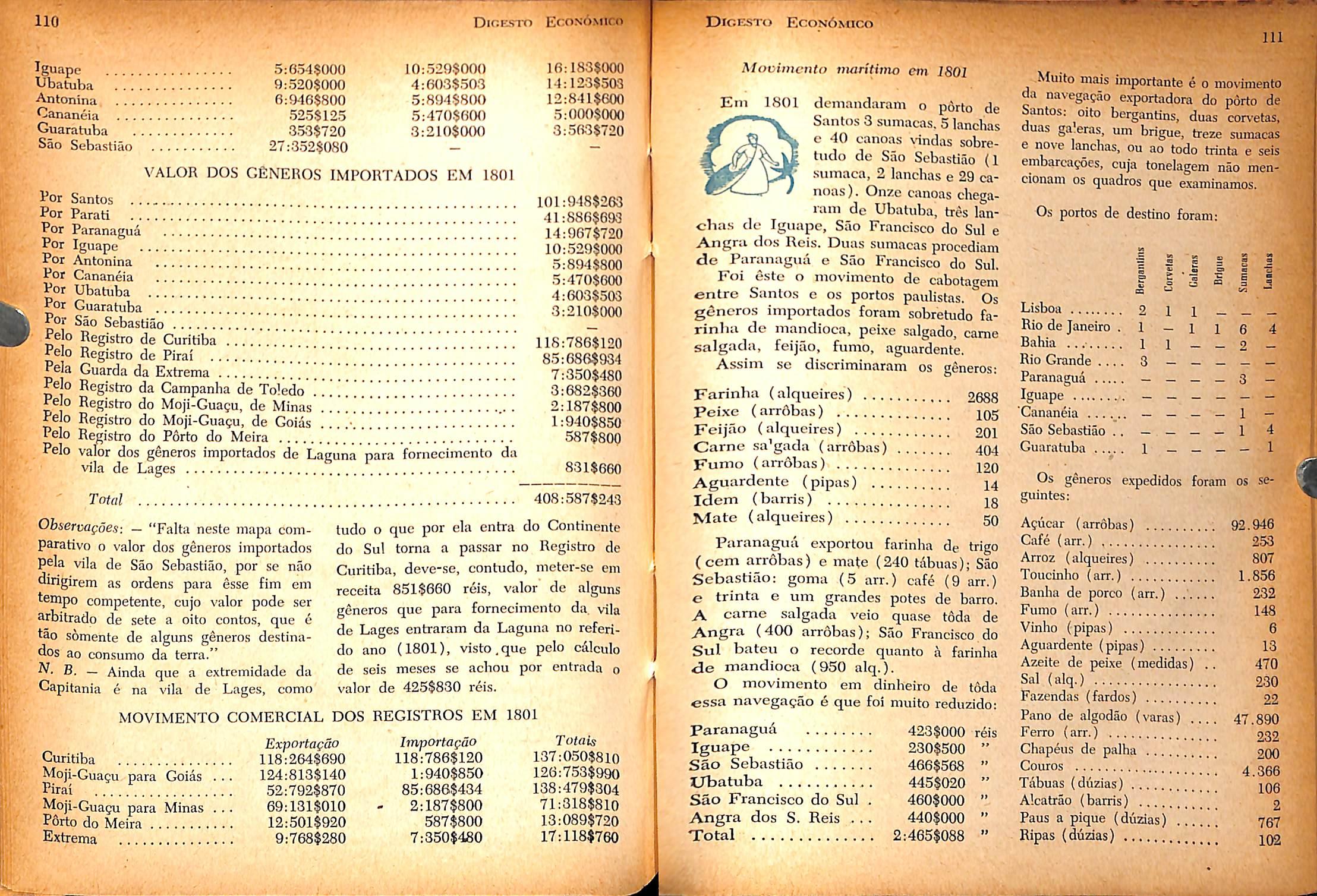
Lisboa 2 1
Rio de Janeiro .
Bahia ...•
Rio Grande .... Paranaguá Iguape Cananéia ......
São Sebastião .. Guaratuba 11 1 3 -
Os gêneros expedidos foram os se guintes:
Açúcar (arrôbas) 92.946
Café (arr.)
Arroz (alqueires)
Toucinho (arr.)
Banha de porco (arr.) . ,
Fumo (arr.)
Vinho (pipas)
Aguardente (pipas)
Azeite de peixe (medidas)
Sal (alq.)
Fazendas (fardos)
Pano de algodão (varas) .
Ferro (arr.)
Chapéus de palha
Couros
Tábuas (dúzias)
Alcatrão (barris)
Paus a pique (dúzias) Ripas (dúzias)
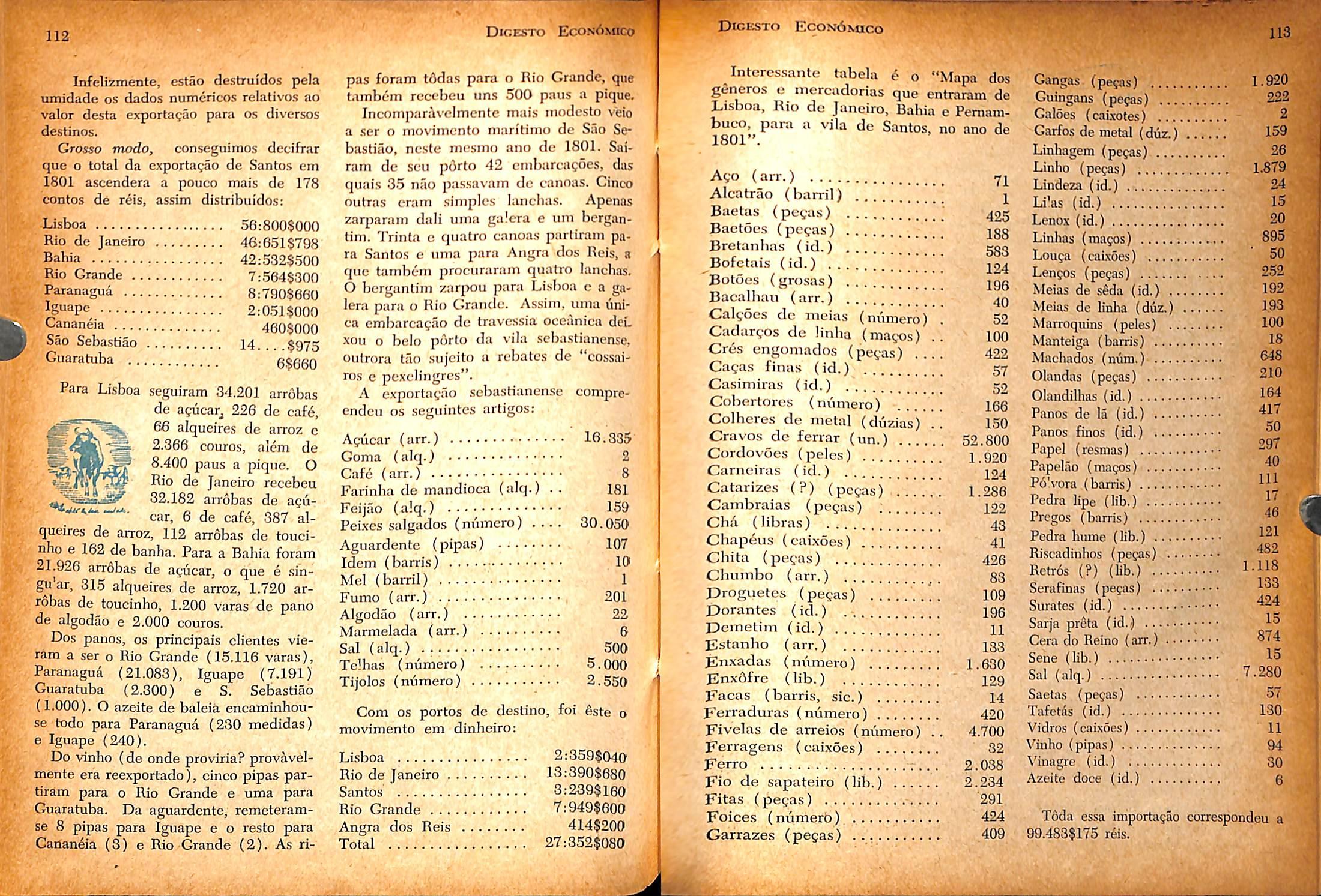
Infelizmente, estão destruídos pela umidade os dados numéricos relativos ao valor desta exportação para os diversos destinos.
Grosso modo, conseguimos decifrar que o total da exportação de Santos em 1801 ascendera a pouco mais de 178 contos de réis, assim distribuídos: Lisboa
Rio de Janeiro
Bahia
Rio Grande ...
Paranaguá ... , Iguape
Cananéia
São Sebastião .
Guaratuba ...
56:800$000
46:651$798
42:532S500
7:564$300
8:790$66ü
2:051$000
4eo$ooo
14....$975
6$660
Para Lisboa seguiram 34.201 arrobas de açiicar^ 226 de café, 66 alqueires de arroz e 2.366 couros, além de 8.400 paus a pique. O Rio de Janeiro recebeu
32.182 arrôba.s de açú car, 6 de café, 387 al queires de arroz, 112 arrobas de touci nho e 162 de banha. Para a Bahia foram 21.926 arrobas de açúcar, o que é sin315 alqueires de arroz, 1.720 ar robas de toucinho, 1.200 varas de pano de algodão e 2.000 couros.
Dos panos, os principais clientes vie ram a ser o Rio Grande (15.116 varas), Paranaguá (21.083), Iguape (7.191)
Guaratuba (2.300) e S. Sebastião (1.000). O azeite de baleia encaminhouse todo para Paranaguá (230 medidas) e Iguape (240).
Do vinho (de onde proviria? provàvélmente era reexportado), cinco pipas par tiram para o Rio Grande e uma para Guaratuba. Da aguardente, remeteramse 8 pipas para Iguape e o resto para Cananéia (3) e Rio Grande (2). As ri
pas foram tôdas para o Rio Grande, que Limbém recebeu uns 500 paus a pique. Incomparàvelmenle mais modc.slo veio a .ser o movimento niaritimo de São Se bastião, neste mcísino ano de 1801. Saí ram de seu pôrto 42 ctnbarcações, das quais 35 não pas.savain de canoas. Cinco outras eram simples landins. Apenas zarparam dali uma galera e um bergantim. Trinta e quatro canoas partiram pa ra Santos e uma para Angra dos Reis, n que também procuranun quatro lanchas. O berganlim zarpou para Li.sboa c a ga lera para o Rio Grande. Assim, uma úni ca embarcação de travessia oceânica dei xou o belo porto da vila scbastianense, oiitrora tão sujeito a rebates de "cossairos e pexdingres".
A exportação scbastianense compre endeu os .seguintes artigos:
(número)
Aguardente (pipas) , 107 Idem (barris) * :• • . 10 Mel (barril) 1 Fumo (arr.) • • , 201
(arr.) 6
Com os portos de destino, foi êste o movimento em dínlieiro:
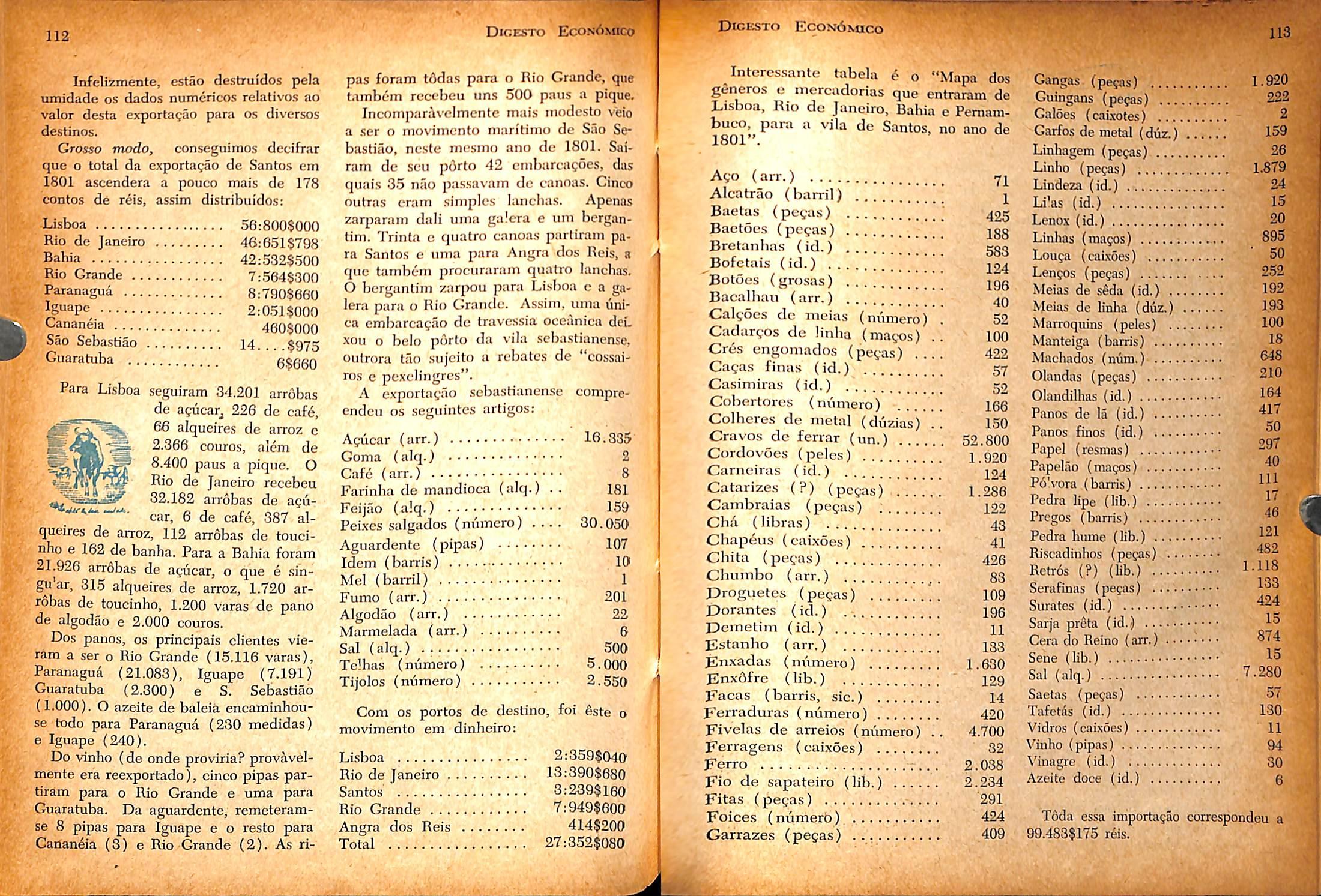
Interessante tabela é o "Mapa dos gêneros e mercadorias que entraram de Lisboa, Rio de Janeiro, Bahia o Peniambuco, para a vila de Santos, no ano de 1801".
Aço (arr.)
Alcatrão (barril) i
Baetas (peças) ^ ^25
Baetões (peças) jgg
Bretanhas (id.) 533
Bofctais (id.) j24
Botões (grosas) jgg
Bacalhau (arr.)
Calções de meias (número) . 52
CadarçDs de linha (maços) .. 100
Crês engomados (peças) 422
Caças finas (id.) 57
Casimiras (id.) 52
Cobertores (número) 166
Colheres de metal (dúzias) .. 150
Cravos de ferrar (un.) 52.800
Cordovões (peles) 1.920
Carneiras (id.) 124
Catarizes (?) (peçiis) 1.286
Cambraias (peças) ; 122
Chá (libras) 43
Chapéus (caixões) 41
Chita (peças) 426
Chumbo (arr.) ^. 83
Droguetes (peças) ' 109
jDorantes (id.) . 196
Deinelim (id.) n
Estanho (arr.) 133
Enxadas (número) 1.630
Enxôfrc (lib.) ' 129
Facas (barris, sic.) 14
Ferraduras (número) 420
Fivelas de arreios (número) .. 4.700
Ferragens (caixões) 32
Ferro .r... 2.038
Fio de sapateiro (lib.) 2.234
Fitas (peças) . 291
Foices (númerb), 424
Garrazes (peças) .409
Gangas (peças) 1.920
Guingans (peças) 222
Galões (cabotes) - 2
Garfos de metal (dúz.) 159
Linhagem (peças) 26
Linho (peças) 1.879
Lindeza (id.) 24
Li'as (id.) 15
Lenox (id.) 20
Linhas (maços) -....v... 893
Louça (caLxões) 50
Lenços (peças) - 252
Meias de sêda (id.) 192
Meias de linha (dúz.) 193
Marroquins (peles) 100
Manteiga (barris) 18
Machados (núm.) 048
Olandas (peças) 310
Olandílhas (id.) i04
Panos de lá (id.)
Panos finos (id.)
Papel (resmas)
Papelão (maços)
Pó'vora (barris)
Pedra lipe (lib.)
Pregos (barris)
Pedra humc (lib.)
Riscadinhos (peças)
Retrós (?) (lib.) l
Serafinas (peças)
Surates (id.)
Sarja preta (id.) • • •
Cera do Reino (arr.) 374
Sene (lib.) 15
Sal (alq.) .7-280
Saetas (peças) 57
Tafetás (id.) 130 Vidros (cai.\ões) 11
Vinho (pipas) 94
Vinagre (id.) 30
Azeite doce (id.) ...., 6
Toda essa importação correspondeu a 99.483$175 réis.
Dentro dos próximos meses será intensífícada a campanha para a acu mulação de reser\'as de metais e mi nerais estratégicos nos Estados Unidos. Segundo se espera, a aquísiçfio de ma teriais vitais à defesa nacional alcan çará .ou aproximará o total de US$ 700.000.000 no período de um ano a partir de 1 de julho, ou seja, um ritmo sele vêzes mais intenso que o atual. No orçamento do próximo ano fiscal os fundos destinados à compra de mate riais estão limitados a US$ 360.000.000, porém está sendo estudado um pedido para que esta verba seja dobrada. Esta verba, destinada a uma medida indire ta de defesa, não está incluída no au mento de US$ 3.000.000.000 pedido para as forças armadas e atualmente o congresso está demonstrando disposição para aprovar quaisquer verbas para des pesas militares consideradas necessárias pelos peritos.
Até ha pouco tempo as reservas de ■ manganês, crômio, estanho e outras ma térias-primas essenciais importadas eram grandes. Foram, entretanto, transferi das na sua maior parte às indústrias particulares desde a cessação das hosti lidades e agora a Junta de Munições das forças armadas deverá restabelecer as reservas. As despesas serão enormes. Segundo os preços correntes, as matériasprimas avaliadas em US$ 2.100.000.000 em 1946 custam agora US$ 3.154.000.000, e na parte final do pro grama de acumulação os preços pode rão ser ainda muito mais altos.
O manganês, metal indispensável na manufatura do aço, é a matéria-prima mais importante adquirida na União So
viética. Em 1946 13.6í da .sua impor tação proveio desse país, porém em 1947 as compras foram maiores. Em 1946, 36% do manganês importado foi de pro cedência africana. A índia e o Brasil constituem outras boas fontes dê.sse me tal. O cròmio é o .segundo material crítico mais importante recebido da União Soviética. Nos primeiros onze meses de 1947 os E.stados Unidos com praram 217.497 toneladas dê.sse produ to na União Soviética o 39.149 na Tur quia. O cròmio é empregado nas ligas de aço utilizadas nas indústrias quími cas e do petróleo. A platina é o ter ceiro metal mencionado na lista de pro dutos críticos importados da União So viética, porém os seus maiores fornece dores .são o Canadá e a Colômbia. Os outros produtos são os seguintes: antimônio, bauxila, cobalto, cobre, chum bo, borracha, estanho, tungstenio, vanádio e zinco.
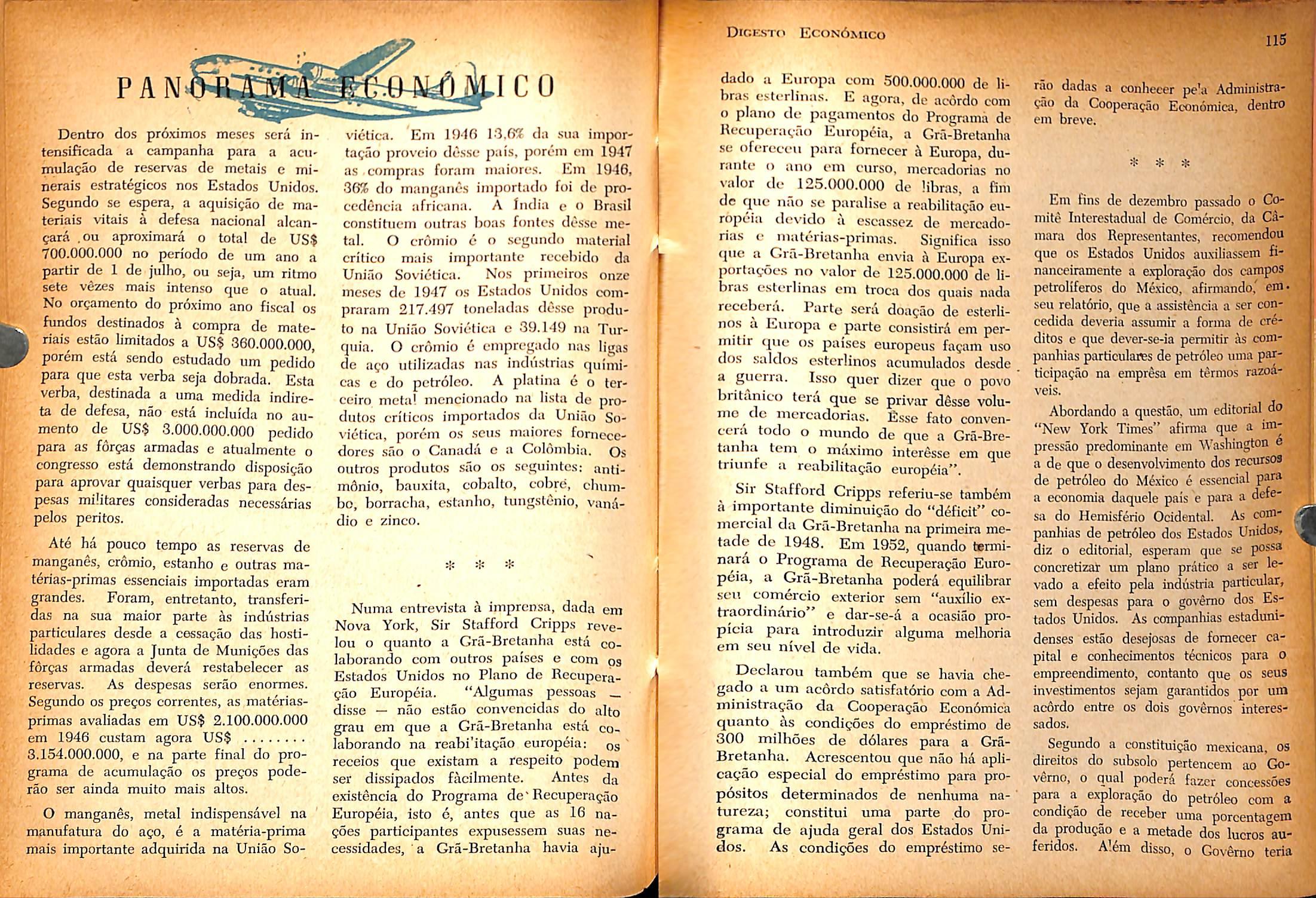
Numa entrevista à imprensa, dada em Nova York, Sir Stafford Cripps reve lou o quanto a Grã-Bretanha está co laborando com outros países e com ps Estados Unidos no Plano de Recupera ção Européia. "Algumas pessoas disse — não estão convencidas do alto grau em que a Grã-Bretanha e.stá co laborando na reabi'itação européia; qs receios que existam a respeito podem ser dissipados facilmente. Antes da existência do Programa de'Recuperação Européia, isto ó, antes que as 16 na ções participantes expusessem suas ne cessidades, ■ a Grã-Bretanha havia aju
dado a Europa com 500.000.000 de li bras esterlinas. E agora, de acordo com o plano de pagamentos do Programa de Recuperação Européia, a Grã-Bretanha se ofereceu para fornecer à Europa, du rante o ano em curso, mercadorias no valor de 125.000.000 do libras, a fim de que nao se paralise a reabilitação eu ropéia devido 11 escassez de mercado rias e matérias-primas. Significa isso que a Grã-Bretanha envia à Europa exportaç-ões no valor de 125.000.000 do li bras esterlina.s em troca dos quais nada receberá. Parte será doação de esterli nos à Europa o parte consistirá em per mitir que O.S jDuises europeus façam uso dos saldos esterlinos acumulados desde a guerra. Isso quer dizer que o povo britânico terá que se privar dêsse volu me dc mercadorias. iSsse fato conven cerá todo o mundo de que a Grã-Bre tanha tem o mxximo interêsse em que triunfe a reabilitação européia".
Sir Stafford Cripps referiu-se também à importante diminuição do "déficit" co mercial da Gra-Bretanha na primeira me tade de 1948. Em 1952, quando tenninará o Programa de Recuperação Euro péia, a Grã-Bretanha poderá equilibrar seu comércio exterior sem "au.xílio ex traordinário" e dar-se-a a ocasião pro pícia para introduzir alguma melhoria em .seu nível de vida.
Declarou também que se haxàa che gado a um acordo satisfatório com a Ad ministração da Cooperação Econômica quanto as condições do empréstimo de 300 milhões de dólares para a GrãBretanha. Acrescentou que não há apli cação especial do empréstimo para pro pósitos determinados de nenhuma naturezíi; constitui uma parte do pro grama de ajuda geral dos Estados Uni dos. As condições do empréstimo se-
rão dadas a conhecer pe'a Administra ção da Cooperação Econômica, dentro em bre\-e.
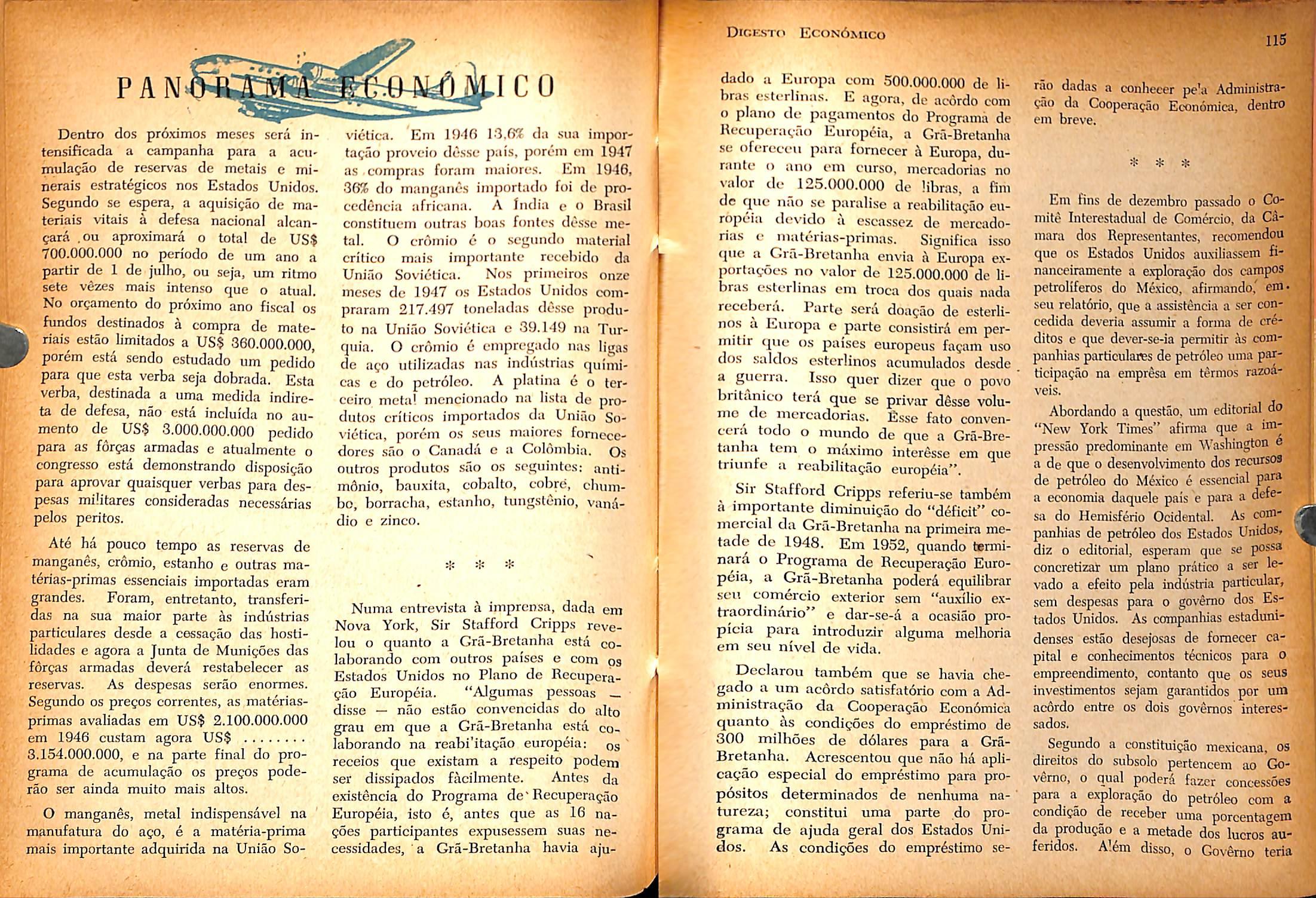
Em fins de dezembro passado o Co mitê Interestadual de Comércio, da Câ mara dos Representantes, retximendou que os Estados Unidos auxiliassem fi nanceiramente a e-xploração dos campos petrolíferos do Mé.xico, afirmando,' em.seu relatório, que a assistência a ser con cedida deveria assumir a forma de cré ditos e que dever-se-ia permitir às com panhias particulares de petróleo uma par ticipação na empresa em termos razoá veis.
Abordando a questão, um editorial do "New York Times" afirma que a im pressão predominante em \\'asÍiington è a de que o desenvolvimento dos recursos de petróleo do México é essencial para a economia daquele pais e para a defe sa do Hemisfério Ocidental. As com- , panhias de petróleo dos Estados Unidos, diz o editorial, esperam que se possa concretizar um plano prático a ser le vado a efeito pela indústria particular, sem despesas para o govêmo dos Es tados Unidos. As companliias estaduni denses estão desejosas de fornecer ca pital e conhecimentos técnicos para o empreendimento, contanto que os seus investimentos sejam garantidos por una acordo entre os dois governos interes sados.
Segundo a constituição me.xicana, os direitos do subsolo pertencem ao Go vêmo, o qual poderá fazer concessões para a exploração do petróleo com a condição de receber uma porcentagem da produção e a metade dos lucros au feridos. Além disso, o Govêmo teria
prioridade na compra de todo o petró leo necessário para o consumo nacional aos preços do mercado mundial, com'ex ceção, naturalmente, do petróleo de "royalty", que lhe seria entregue dire tamente. O produto excedente poderia ser vendido por qualquer concessionário no mercado internacional com isenção de impostos de exportação.
Segundo um dos planos para a ex ploração do petróleo mexicano, os con cessionários dos terrenos petrolíferos en'carregar-se-iam do financiamento e da parte técnica. Além disso, podcr-se-ia estipular que os concessionários deveriam auxiliar a Pemex (Petróleos Mexicano.s), companhia formada p*e!o governo, em' todos os problemas técnicos relativos ao transporte, refinação e distribuição do petróleo e seus produtos no México. Acredita-se, geralmente, que esse seria o processo mais prático para a solução do problema. Dessa forma fortificarse-ía o espirito de boa vontade e o govêmo mexicano seria beneficiado com uma renda adicional, proveniente da venda de petróleo no exterior, e estaria em condições de comprar as mercadorias de que necessita no exterior, sem re correr a empréstimos.
O México e o Canadá são os únicos países que poderão eventualmente for necer petróleo aos Estados Unidos sem o recurso de transportes marítimos. Nos últimos meses foram descobertos exten sos campos petrolíferos no oeste cana-
dense, nas imediações da frontcim com os Estados Unidos, porém o consumo de petróleo pelo Canadá é ainda bastante superior à produção do país. Durante um certo período o México foi o segun do maior produtor de petróleo no mun do. Sua produção cotneç-ou, entretanto, a declinar na década de 1920 em conse qüência dos dístúrbio.s políticos e do es gotamento de a'gims campos. Desde o decreto de expropriação, de 1938, não se dc.scobriram novos poços no país. Atualmente a prôdução diária é de cerca de 170.000 barris, o que corresponde mais ou menos ao consumo do país, porém o México ainda importa alguns lubrificantes e produtos especiais de pe tróleo.
Nos primeiros onze meses de 1948, informam de Washington, as e.xportações de borracha e artigos fabricados com essa matéria-prima elcvaram-se a 119.101.507 dólares, registrando-se, as sim, diminuição de 40,7%, em relação ao período correspondente de 1947.
As exportações de pneuniático.s para caminhões e ônibus, por outro lado, as cenderam a 44.908.068 do'ares, em com paração com 74.401.246 -em 1947. As exportações de pneumálícos para car ros de turismo subiram para 7.959.925 dólares, quando foi de ,25.730.919 .em 1947. ^
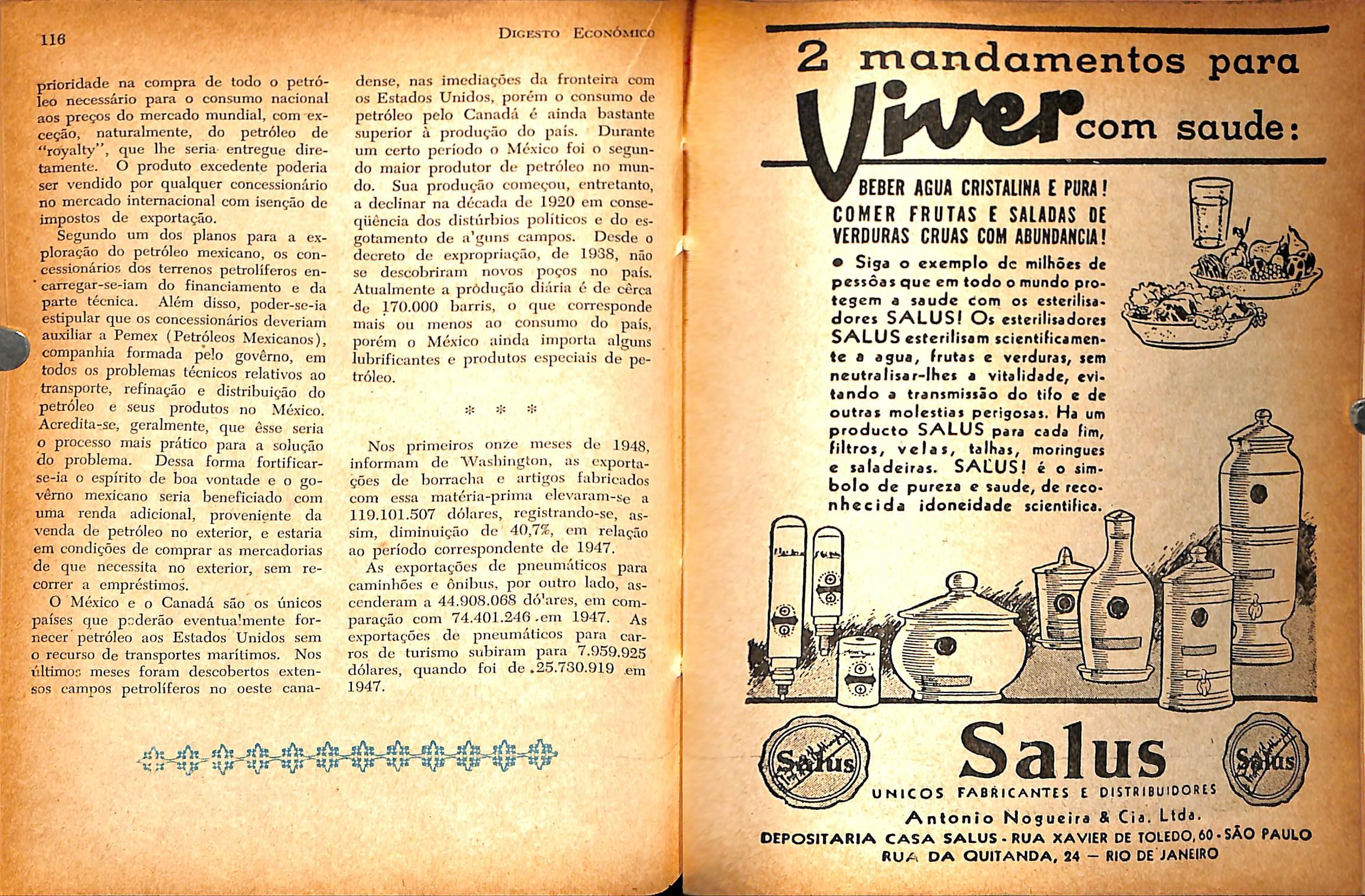
BEBER AGUA CRISTALINA E PUÍ c PUR om
A!
COMER FRUTAS E SALADAS OE
VERDURAS CRUAS COM ABUNDANCIA!
• Sísa o exemplo de milhões de pessoas que em todo o mundo pro tegem a saúde Com os esterilisadores SALUSf Os estcriíisadores SALUS csterílísam scientiflcamentc a »3Uê, frutas c verduras, sem neutralisar-lhes a vitalidade, evi tando a transmissão do tlfo e de outras moléstias perigosas. Ha um producto SALUS para cada fim, filtros, velas, talhas, moringues e saladeíras. SALUS! é o sím bolo de pureza e saúde, de reconheeida idoneidade sclentifica.
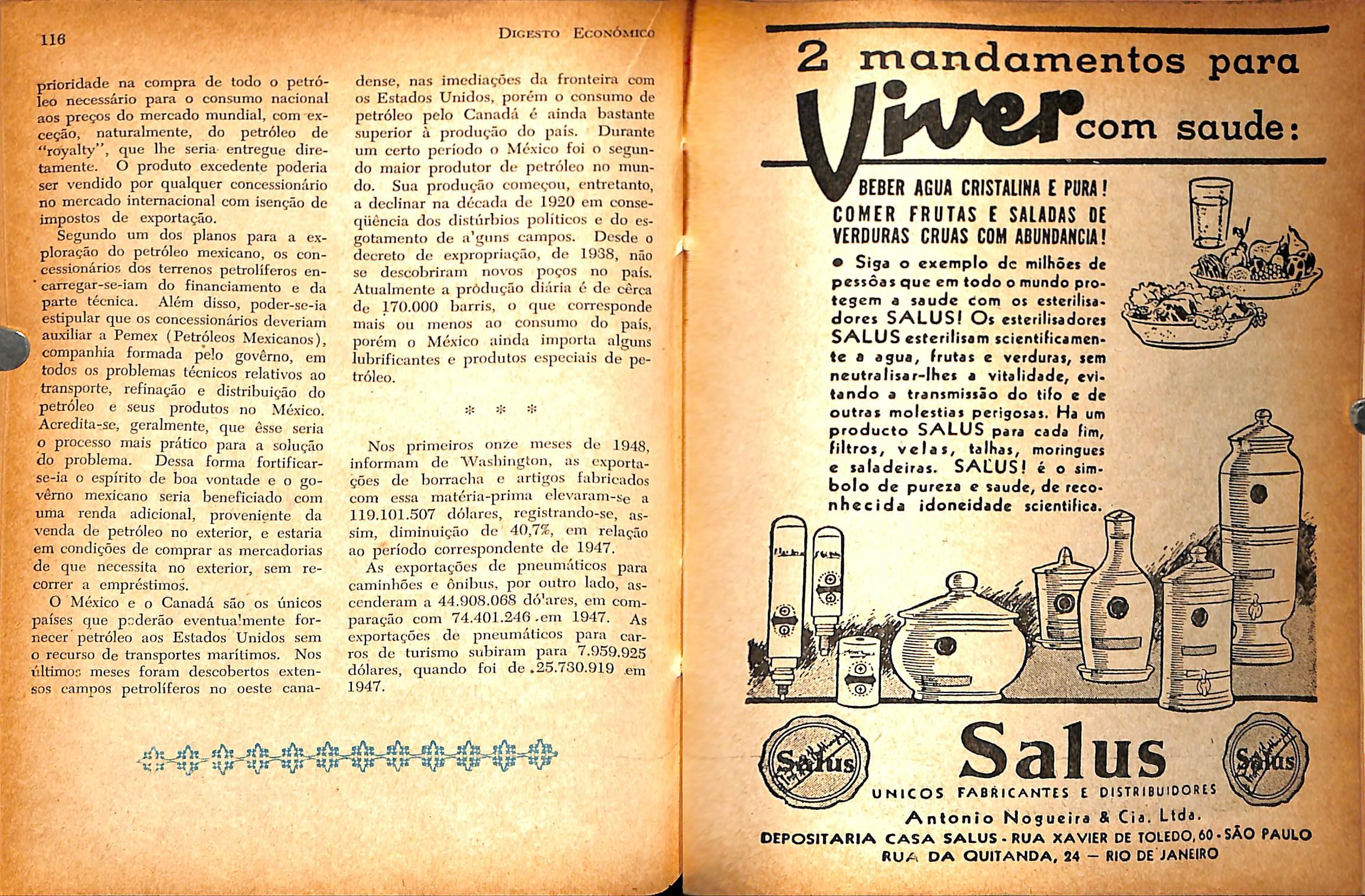
ÚNICOS FABRICANTES t DISTRlBUlDOftlS Antonio Nogueira & Cia. Ltda.
DEPOSITARIA CASA SALUS - RUA XAVIER DE TOLEDO,60•SÃO PAULO
RUA DA OUJTANOA, 34 - RIO DE JANEIRO

do fAoli alta qvofidodo,a CIA. MfCHANICA C
IMPOftTADORA DE SÂO PAULO, eitó fabrl tenda em qualquer bitola no* ^egulnls» tipet:
•8RAC" — Pofo <0Aifrvc6«t, <M>t #<p»ci/'coç6** o^ciou do I.P.T. E0'9>37CA — E0>3*SOCA. • no •io«eil'tflcôe on«rieeno ASItA-A-nO.» (Hard Grod»)
"SRAP' — PofO Itffomeftíp» com lo6' d» <erbe«o «©«íOftdo do O.SS% o 1.259b. po/o íobficocâo d* rAord«n'oi d* tof* '*0}. rnotriiai. «•««oi. loiovrai. •tfompoi, co'to fHot. lomtno da loCC1.ío<Ad«i.lofKad«)'0» monuoif,í««rom9nloi poro <0H« d* courot» oodurofrffat «licoidai». írorai, Dvnc6«>.^'ocot. íiffomtnroi pofe cortar ooool, •doret. novolhot. InttruméAtoi d* cirurQiO* colibrm, bvrli O limo».
~ Po'o Itrrofflanfot ogrleotot. 6om o 'oôr do corbone 0.15% o 1.10%. ooro lobricocâo do oniodoi. rodo», poi, oi*oco% dJtcai do ofodo. oícoroío», cblboncai. olíonoov mocKodov íacôo», íakos, oie
BRAM — Paio Nn» mocânicoi, dotdo e tipo outro doco «o dw/o. tofioftdô o tod' do carbono do 0.06% o 0.65% oioocloio pofo íobrkoç6o do rob'ro«. poroívio». 0'0rno». prooo», porcov Oiioi do fior«snil»tdo. ongranogoni. onO» OOfO .o»*'odo* do for» »o, utontiliei poro conttruçôe do môowinot»
BRAS' — Paro íobrkaçôo do mofo» •m goiol, com o lo^i do corbono •Of.eodo do 0.4$% a 1.05% com fo6f do Ulicro o)« 0.5%. <0,50%). Eipgclal poro moto» ollcoidoli o fol»o* do moíoi Ooro «okgloi om ga,al, jj, i^^ro. mobino». «Omp». coL cnòo». o ndqu^no» om gorai.
A Ha odgvlfld» om tongoo onoo do troboUta tAi ArJl«. dHponiamoi no fabríco^Oo do» no»»o» produ<Ib haé AA..V tomo» morocJdo o (ontior>co o o protartn* cHonto», o» oc«i do no»io fobrko^flo tir o luo Am VüVuoiDn" ^
HOSSDS PRODUTOS SlO UCH1C8HTHTE PERFEITOS

^ffm0.PE5S0^^
Não há quem o contenha... Ba tendo a hora do "seu" Brahma Chopp, sai correndo e ninguém o segura... Mero capricho, dirão... Qual nado! Aqueio fidelidade tem fundamentos... Ele a quer tanto, porque Brahma Chopp è super* deliciosa! Nessa fabulosa cerveja s6 entram puríssimo fermento, vi goroso malte. aromáUco lúpulo. Que saudável e gostosa bebida assim pôde ser criada! E quantos admi radores fascinados fôz ela conse quentemente pelo Brasil I
INDUSTRIAL E IMPORTADORA S.A.
CAIXA POSTAL, 133
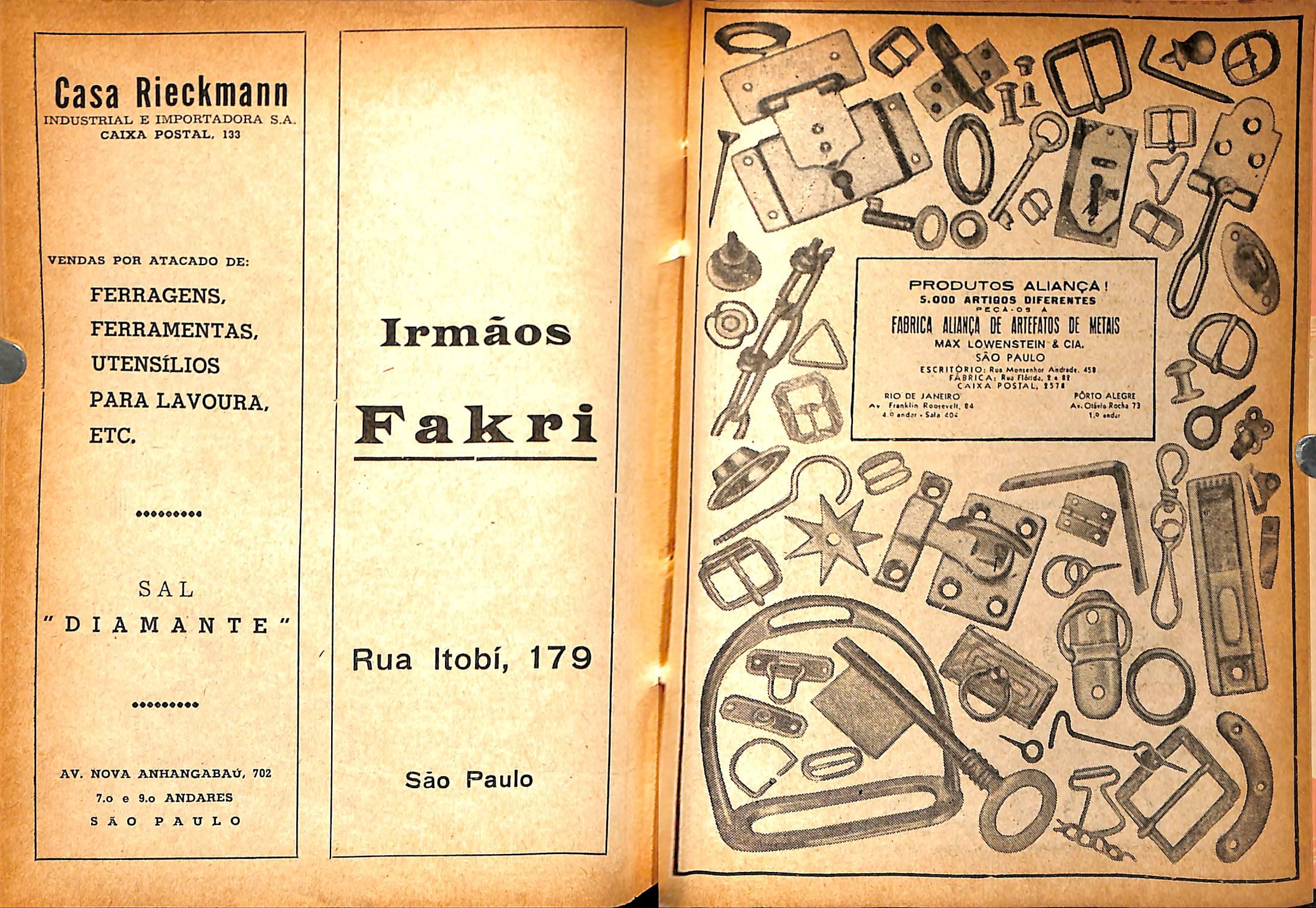
VENDAS POR ATACADO DE:
Irmãos
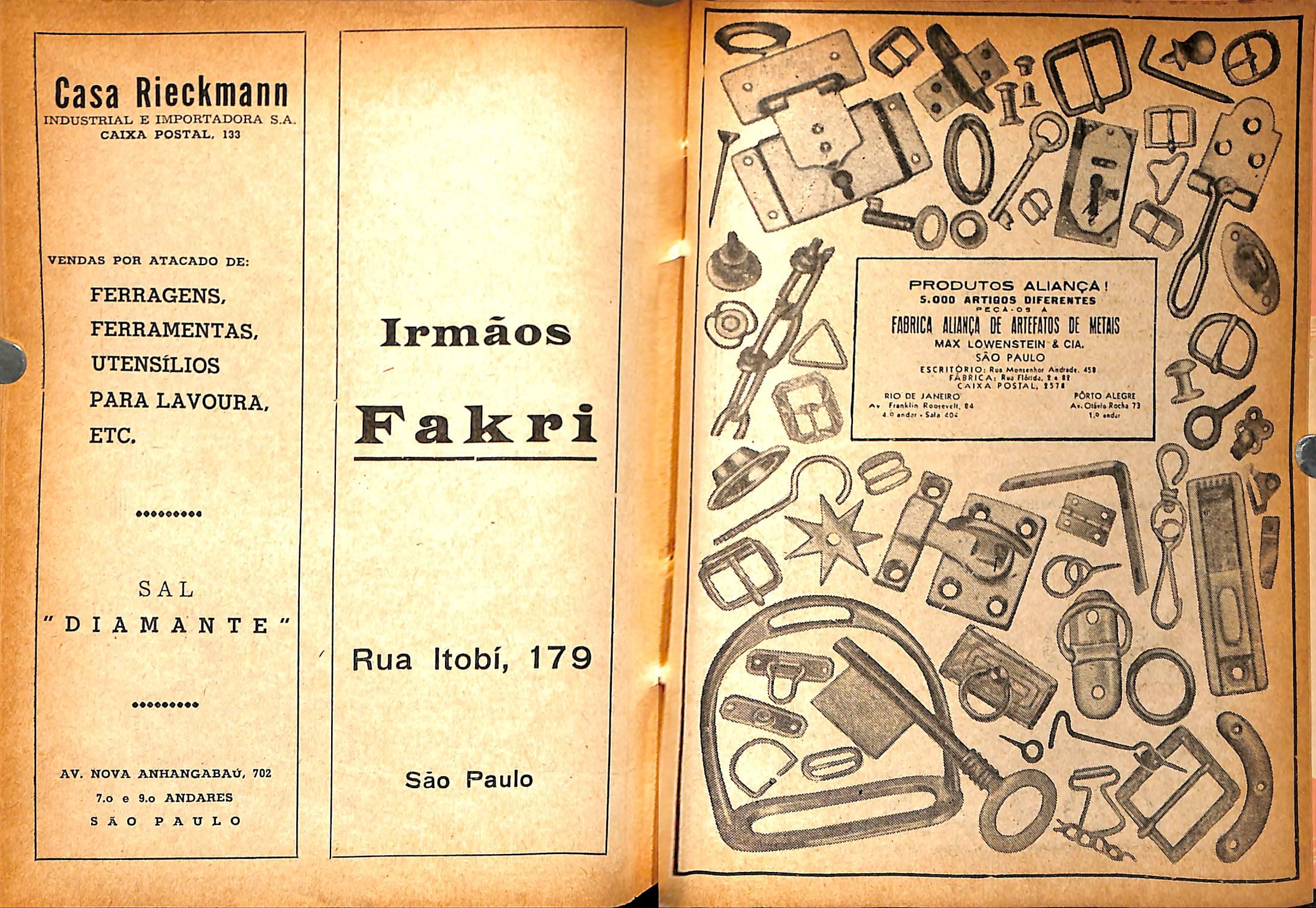
5.000 ARTIGOS DIFERENTES D mmii miHKCA Df mm^ dí mis
MAX LOWENSTEIN í CIA. SÃO PAULO
ESCKITÕRIO: fta» Msnítnhof As^tdv. dSI rABRICAi Rm ri&ri«4, t Caixa po$ial, tsit
RIO oe /ANIIRO PÔRIO AUSRt nllin R.Mt.tM, t. Ai.Oli<i« )) d,r > S,l, 40* 1.9 ê«tfi
Praça Júlio Mesquita, ■84-96-102
FONE: 4-0124
São Paulo
Pneus e Câmaras de Ar de todas as marcas. Rodas para Autos e Ca minhões. — Recautchuíagem, Vulcanisação e Consertos:
Especialistas em Pneus para:
TRATORES AVI ÕES ETC.
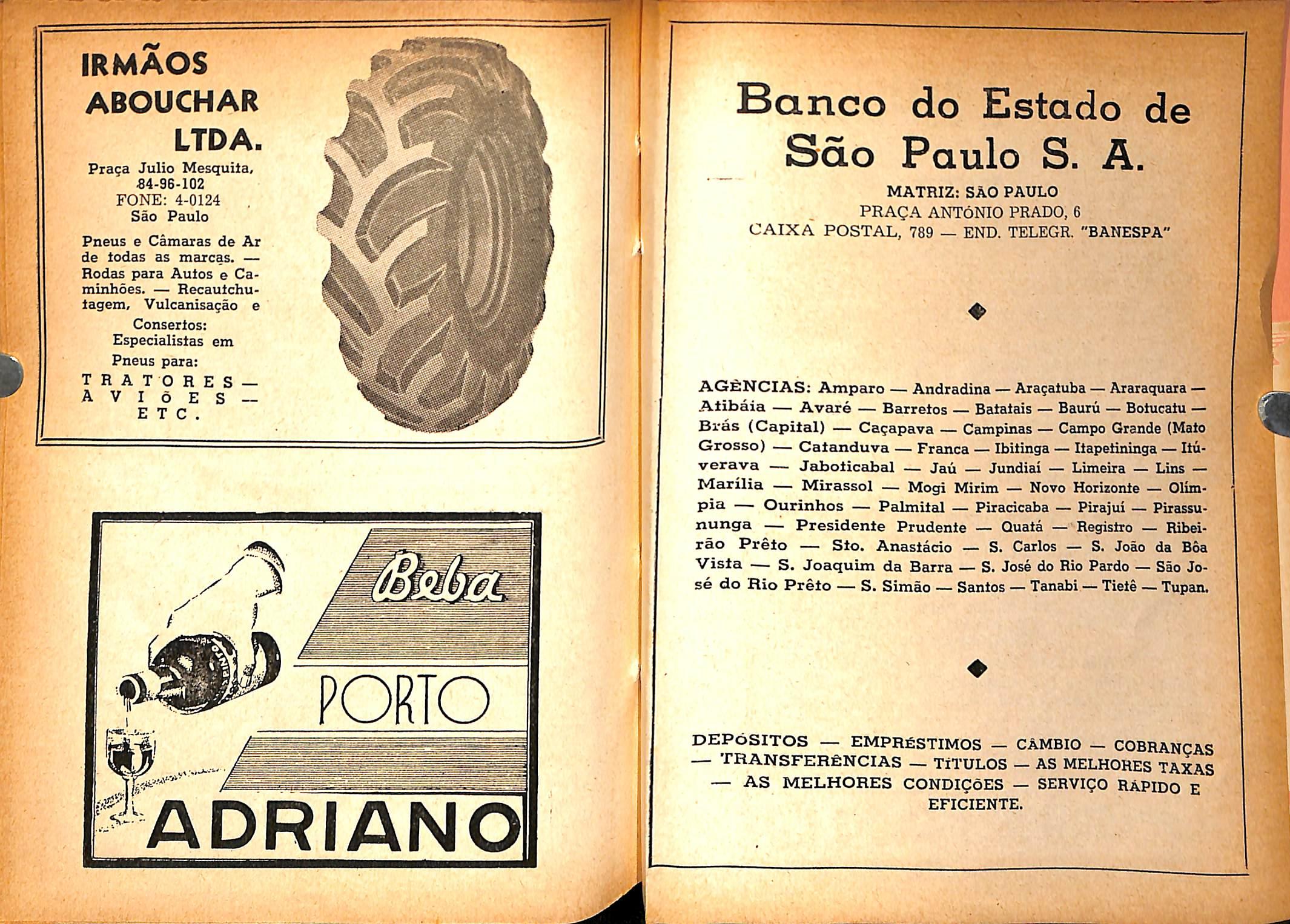
MATRIZ; SÃO PAULO
PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 6
CAIXA POSTAL, 789 — END. TELEGR. "BANESPA"
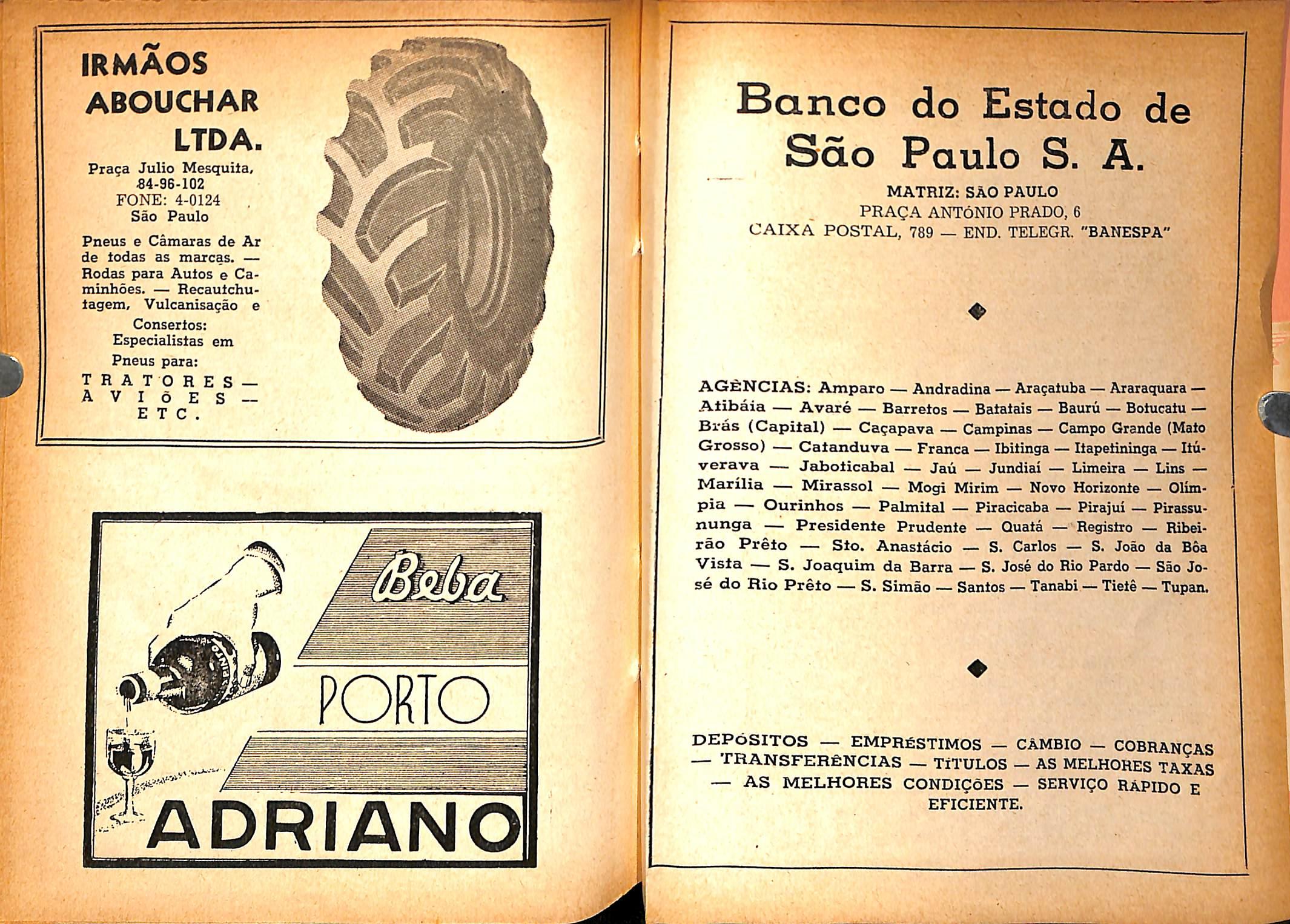
AGÊNCIAS: Amparo — Andradina — Araçatuba — Araraquara
Atibáia — Avaré — Barretes Batatais — Baurú — Botucatu — Bx^ás (Capital) — Caçapava — Campinas — Campo Grande (Mato Grosso) — Catanduva — Franca — Ibitinga — Itapetininga — Itúverava — Jabolicabal — Jaú — Jundiaí — Limeira — T.ins — Marília — Mirassol — Mogi Mirim — Novo Horizonte — Olímpia — Ourinhos — Palmital — Piracicaba — Pirajui — Pirassununga — Presidente Prudente — Quatá — Registro Ribei rão Prêto — Sto. Anastácio — S. Carlos — S. João da Bôa Vista — S. Joaquim da Barra — S. José do Rio Pardo — São Jo sé do Rio Prêto — S. Simão — Santos — Tanabi — Tietê — Tupan.
depósitos — empréstimos — CÂMBIO — COBRANÇAS — TRANSFERÊNCIAS — TÍTULOS — AS MELHORES TAXAS — AS MELHORES CONDIÇÕES — SERVIÇO RÁPIDO E EFICIENTE.
SEMENTES
MARCA REGISTRADA
DE
NASCIMENTO & COSTA. LTDA.
Importadores e di"tributdores. de se mentes de orlaliças e flores dos melhores cultivadores.
Remessas pelo reembolso postal.
LARGO GENERAL OSORIO. 25 — TELEFONE: 4-5271
End. Telegr.: "SEMENTEIRA" SÃO PAULO

RUA .ÁLVARES PENTEADO N.o 112 SÃO PAULO
COBRANÇAS — DEPÓSITOS — EMPRÉSTIMOS — CÂMBIO — CUSTODIA — ORDENS DE PAGAMENTO — CRÉDITO
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL — CARTEIRA DE FINANCIAMENTO.
TAXAS DAS CONTAS DE DEPOSITO: Populetres (limite de Cr^ 50.000,00)
(limite de Cr$ 100.000,00)
Depósitos a Prazo Fixo: Depósitos de Aviso Prévio: 90 dias 4V2% a.a. 12 meses 5% a.a. / 60 dias 4 % a.a. 6 meses 4% a.a. 30 dias 3y2% a.a.
Contas a Prazo Fixo. com Pagamento mensal de Juros: 6 meses 3^/^% a.a. 12 meses ...... .. 41/2% a.a.