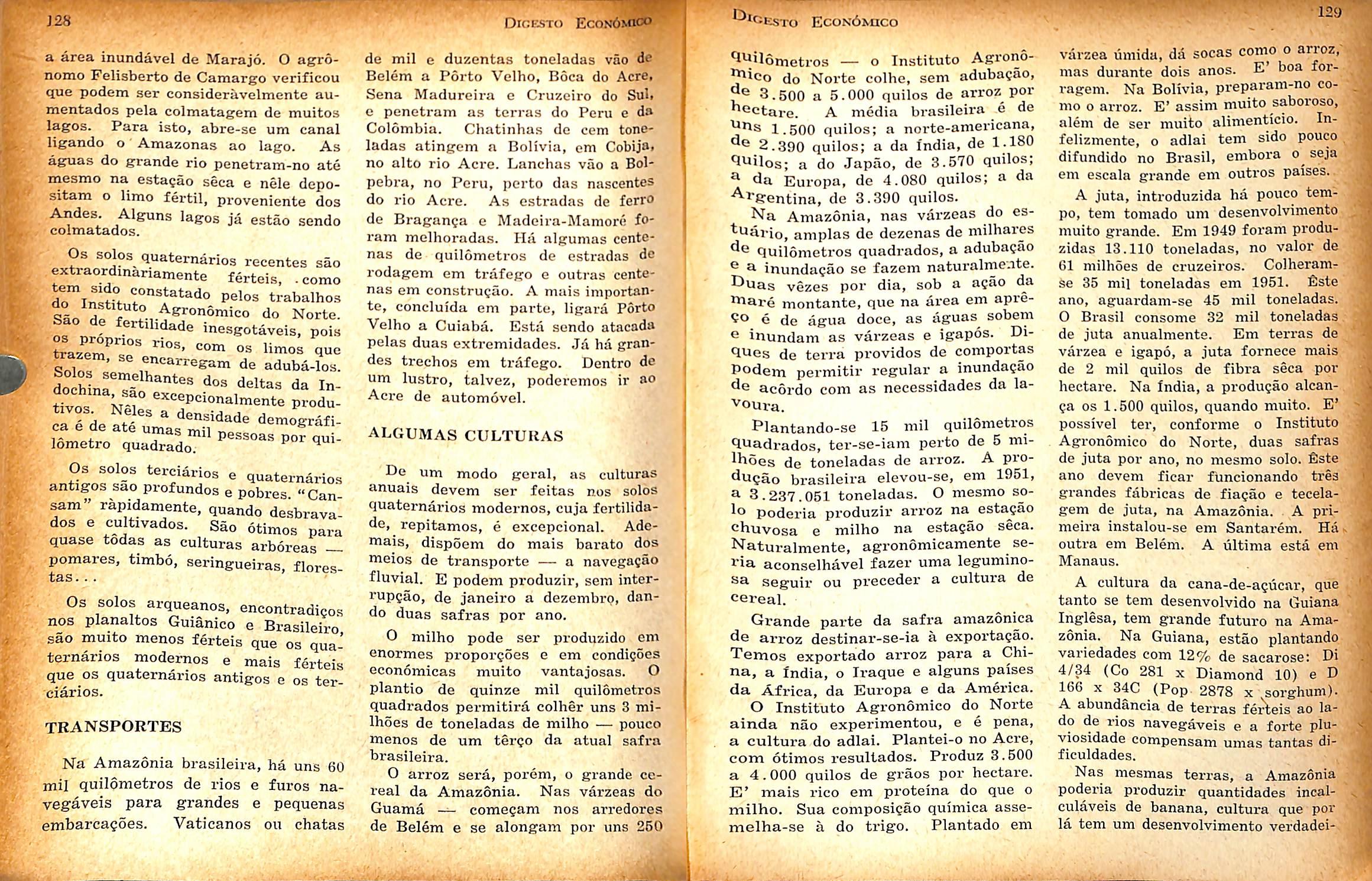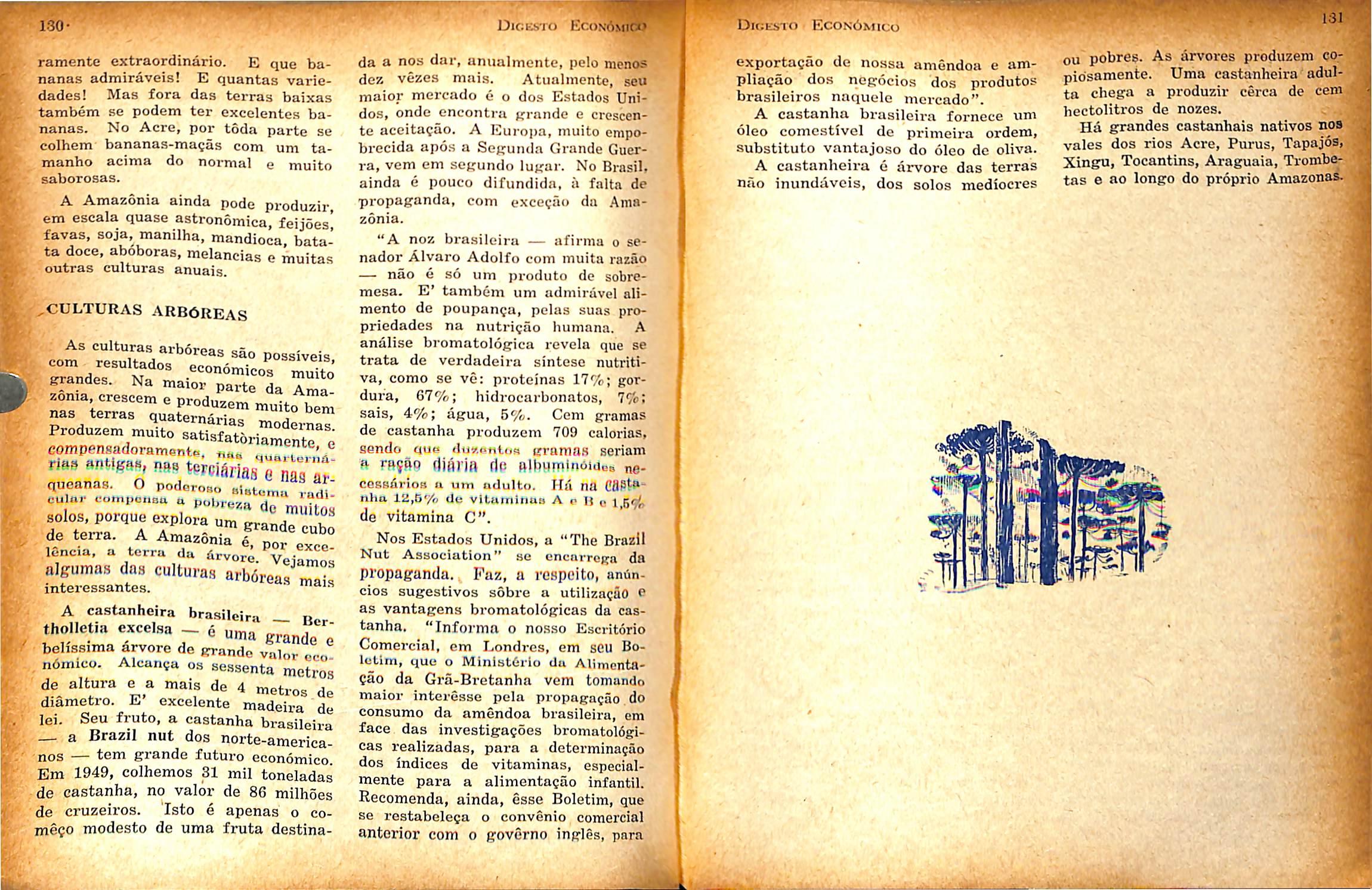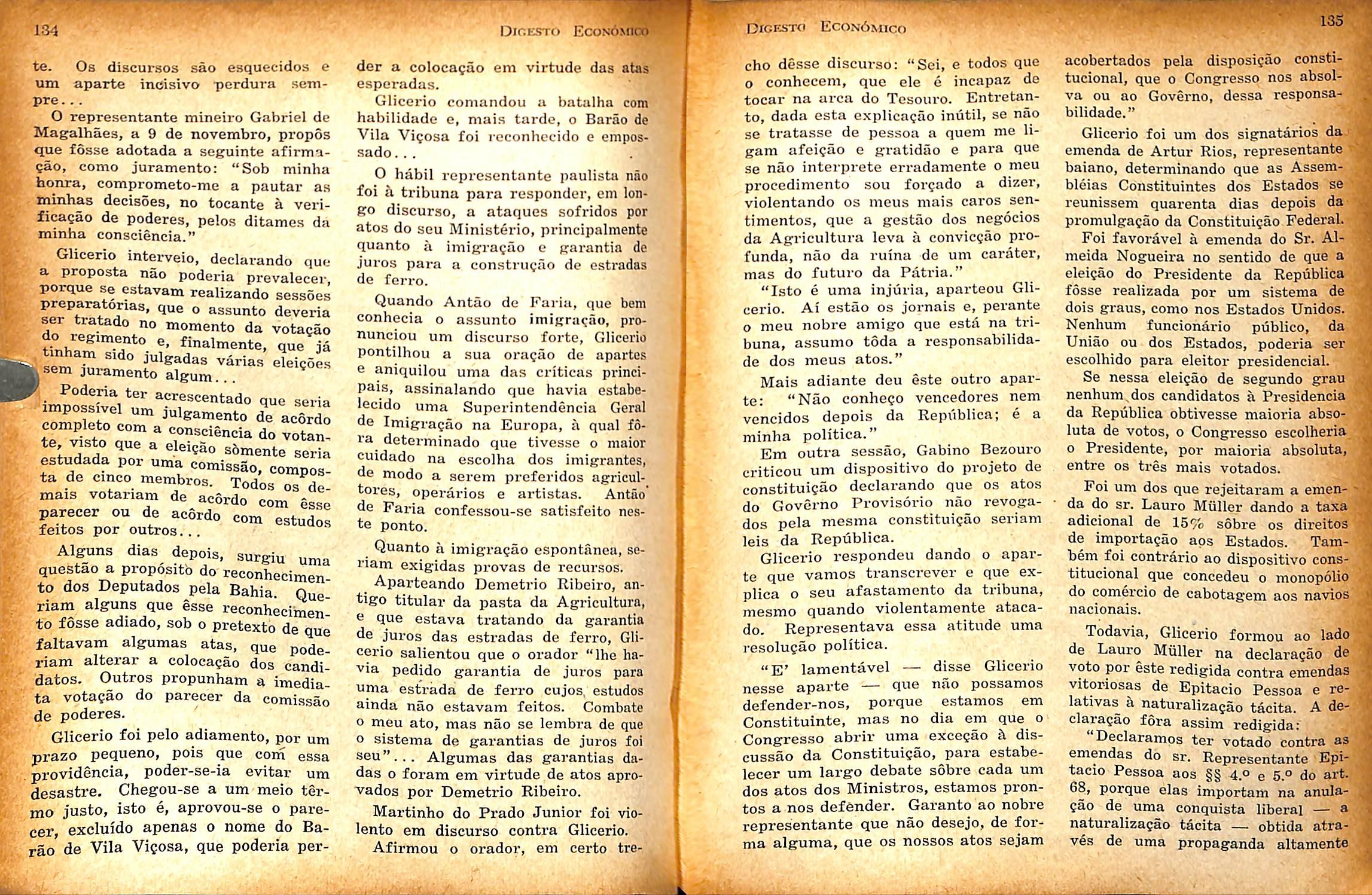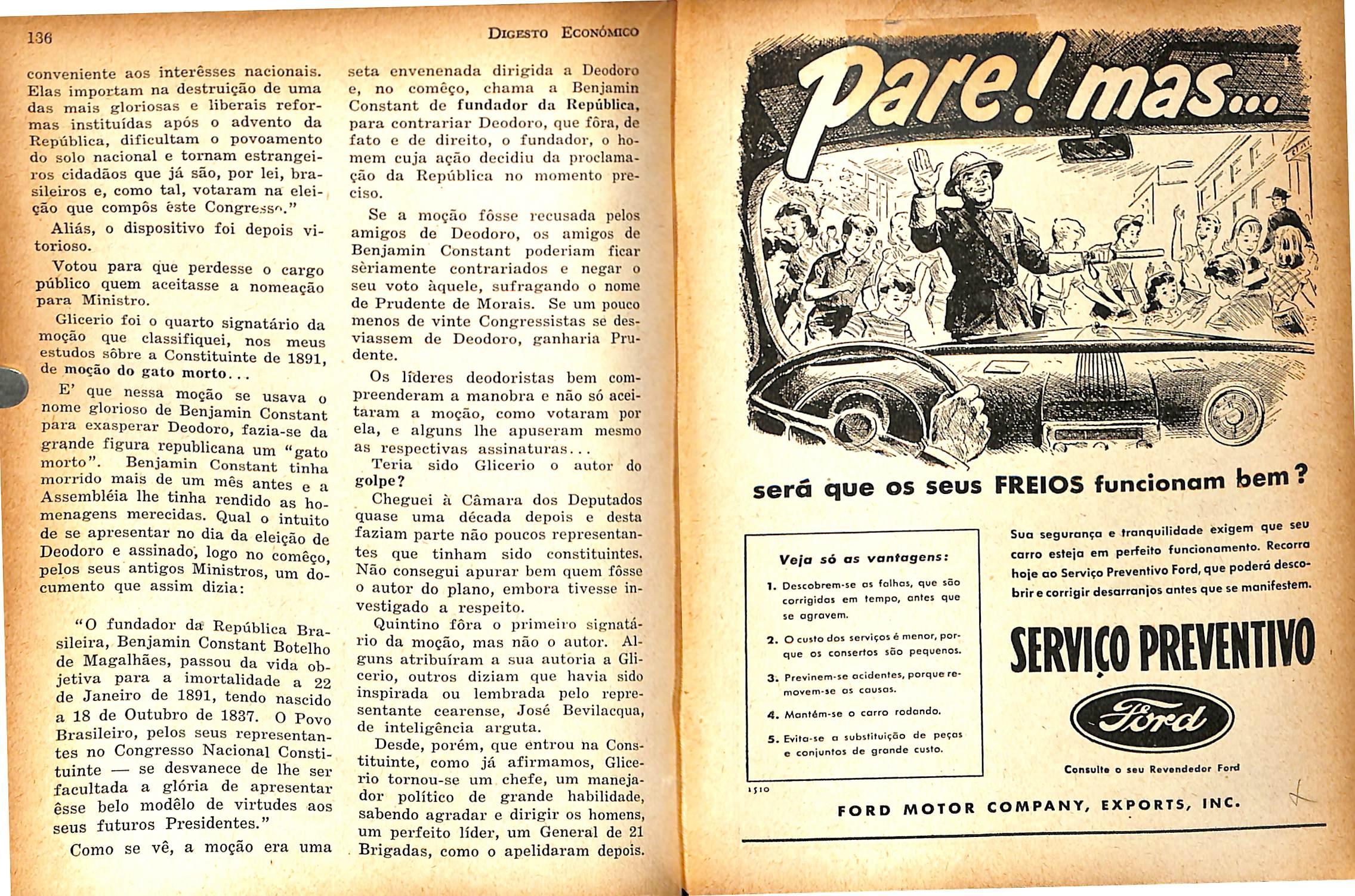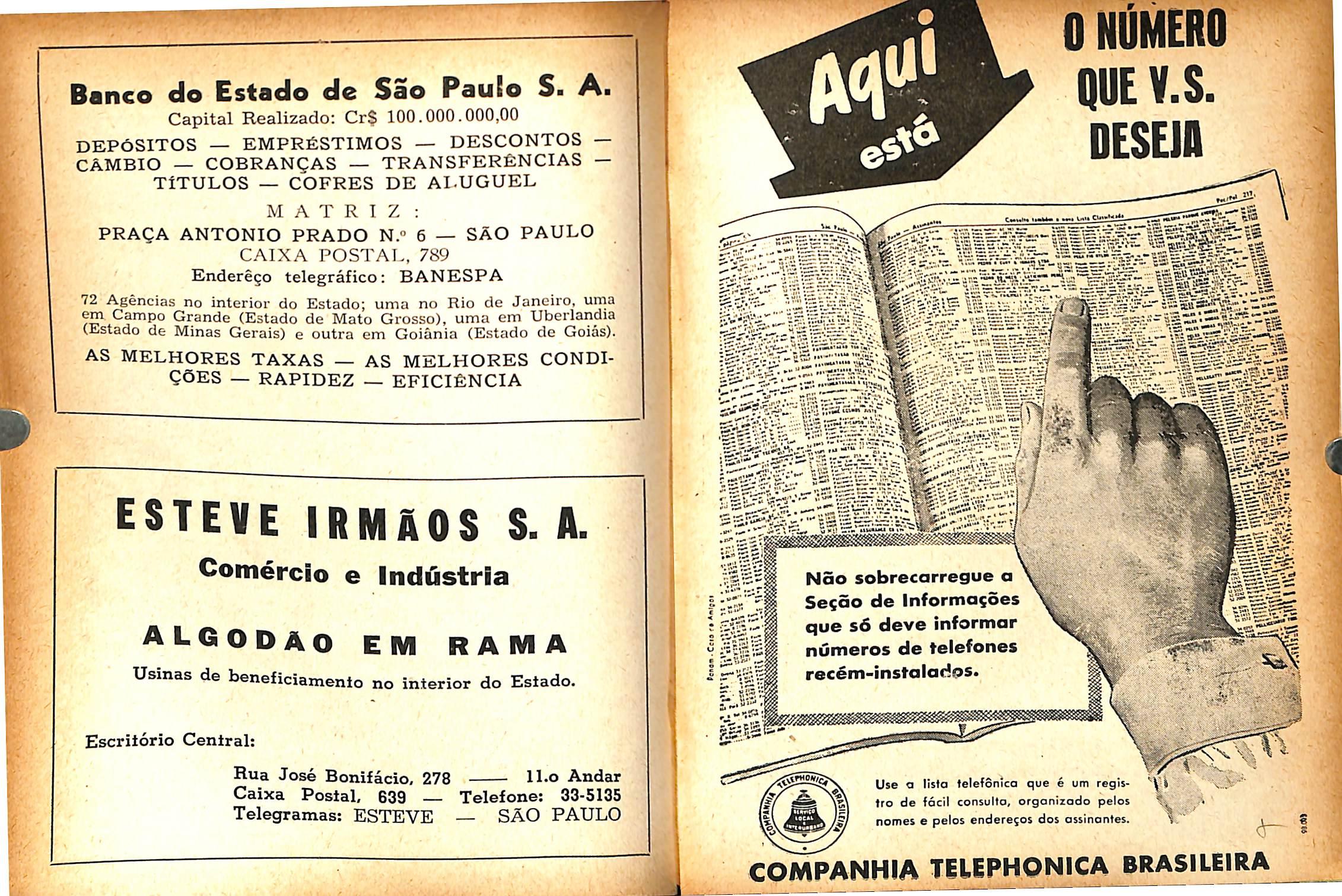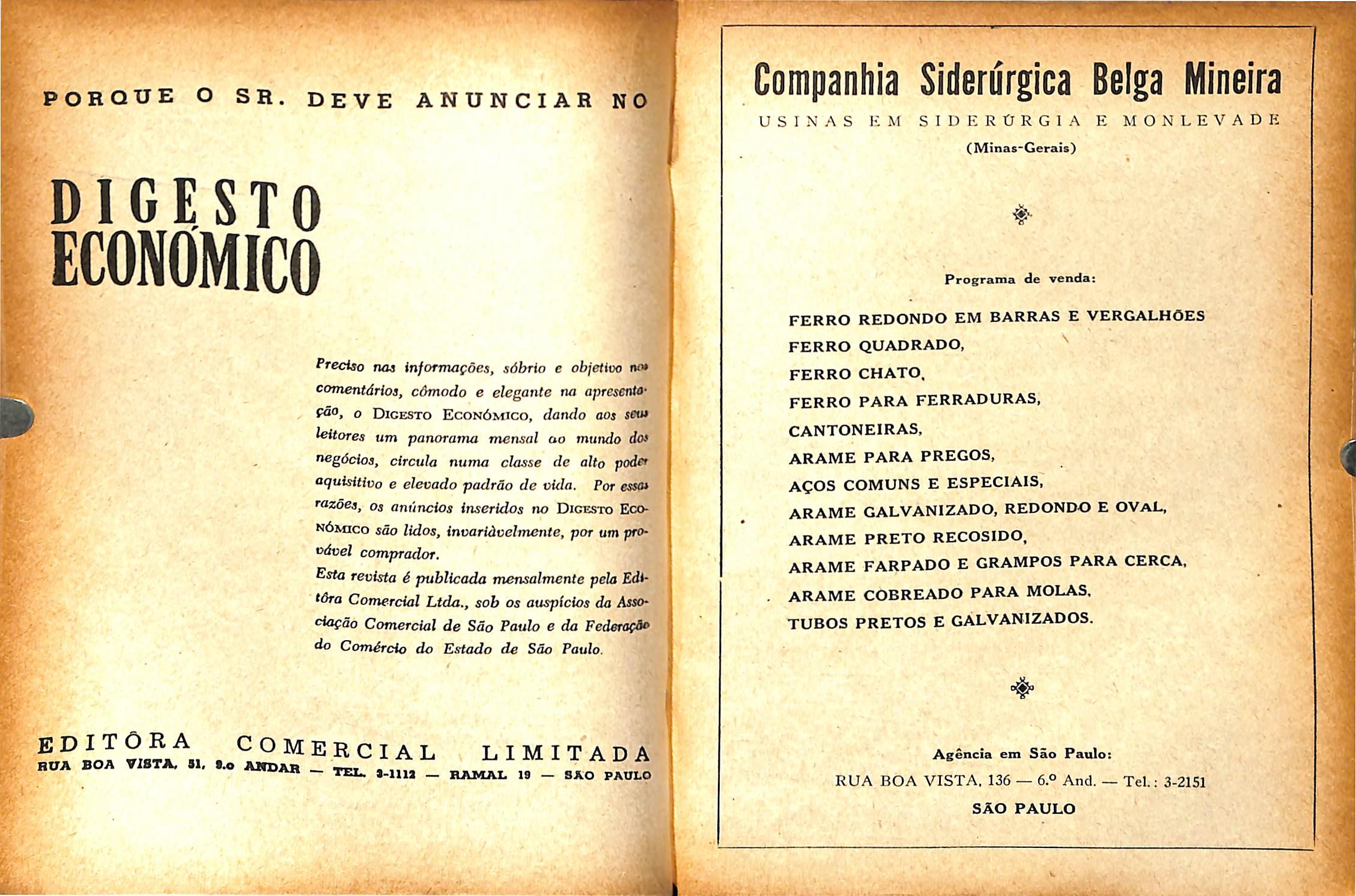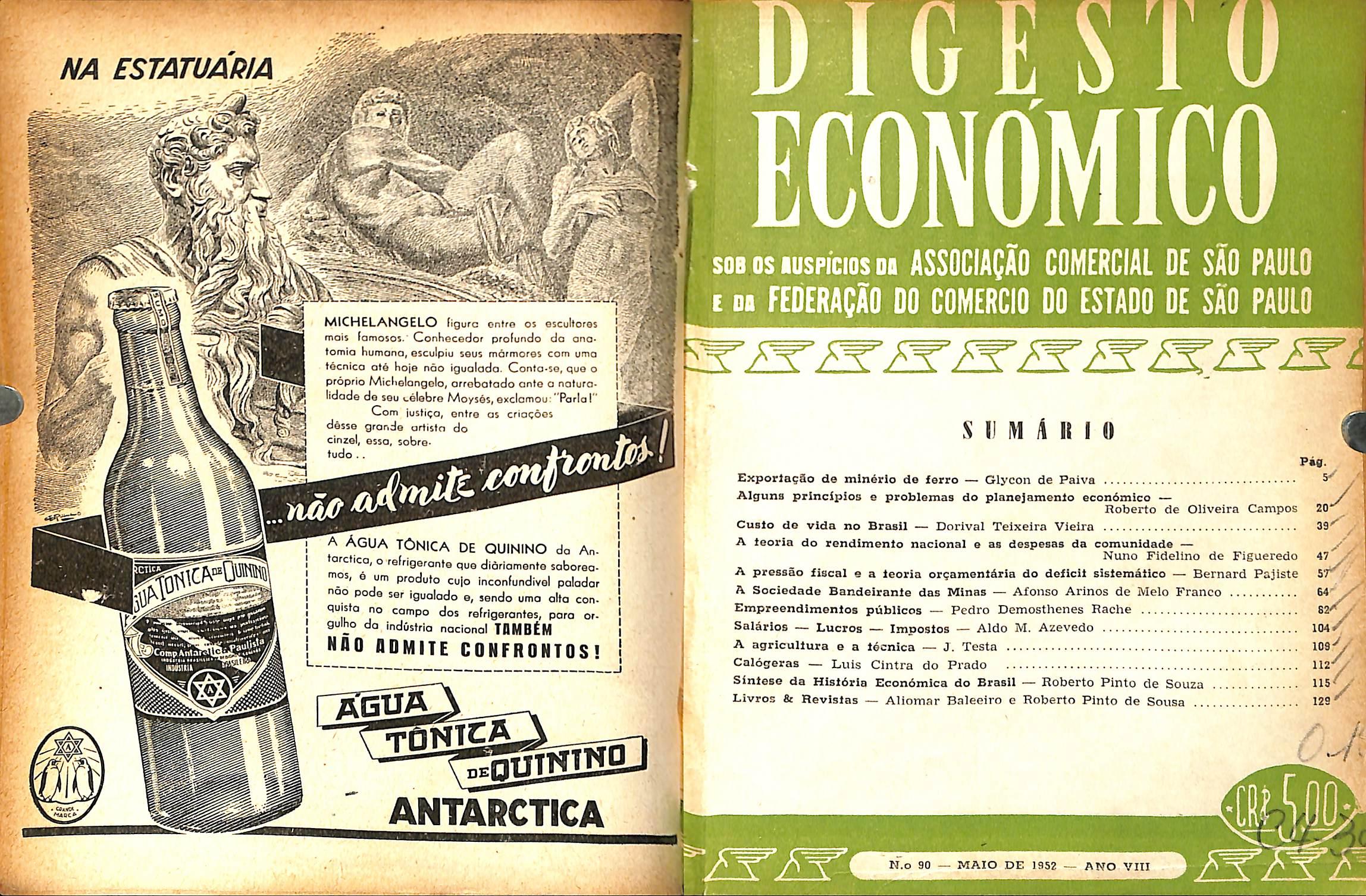DIGESTO ECON6MICO
SOBOSIUSPÍCIOSDI ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
E D> FEDERAÇÃO 00 COMERCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S I ^1 A R
A comunidado do carvfio o do bço — Rlchard Lewlnsohn Planojamonlo do dcocnvolvimonto econômico do países sub-desonvolvldos Roborto de Oliveira Campos O polróloo brasileiro — Monopólio estatal e livre empresa — Odilon Braga Crise do Direito o Direito da Crise — Finalidade da aula
Afonso Arinos de Melo Franco A moeda na economia liberal e na economia dirigida — Dorival Teixeira Vieira Os fundamentos sociológicos da Economia Política — Djacir Menezes Alguns aspectos da imigração om São Paulo — O movimento imigratório José Francisco de Camargo

o preço_ único do açúcar — Roberto Pinto de Souza A inflação, o empréstimo compulsório o o imposto extraordinário sôbre o capital Bemard Pajiste Um defensor da Justiça e da liberdade — Afonso Arinos de Melo Franco A fome do mundo Estanislau Fischlowitz
A cafcicultura nas zonas novas — José Testa I A sociedade, o poder e a representação — José Pedro Galvão de Souza Valorizaçao da Amazônia São Paxilo na Constituinto de 1891 — Francisco Glicório — Otto Prazeres
Pimenlel Gomes
3
i
I
I » ABRIL DE 1952 — ANO VIII N.o 89
ESTA X VENDA
nos principais pontos de jornais no Brasil, ao preço de Cr$ 5.OU Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos n suprir qualquer encomenda, bem como a receber podidos de assinatma:s r.o de Cr$ 50,00 anuais.
Agenie geral para o Brasil FERNANDO CHINAGLIA
Avenida Presidente Vargas, 502, 19.o endar Rio de Janeiro
AJagoas: Manoel Kspindola, Praca Pe dro II, 4ü. Maceió.
Amazonas: Agência Frelfas Ttua quun Sarmento. 2a. Manaus.
Bahia:
Paraná: J. Gbiagnonc, Rua 15 de No vembro. 123. Curitiba.
Joa-
Alfredo J. de Souza & Cia. li Sdldânliü dti Gomo, t>, Ssivador.
Ceará: J. Alaor de Albuquerque & "'ia Praça do Ferreira. G21. Fortaleza!
Espírito Santo: Viuva Copolilo & FiIhos. Rua Jerônimo Monteiro. 3G1 Vitória. ●
Goiás: João Manarino. Rua Setenta A Goiânia. *
Maranhão: Rua
Livraria Universal Joâo Lisboa, 114, SSo Luiz. ’
Mato Grosso: Carvalho. Pinheiro & Cia.. Pça- da Republica. 20. Cuiabá
Minas Gorais: Joaquim Moss Velloso Avenida dos Andradas. 330. Bolei Horizonte
Pará: Albano « Martins & Cia.. Tra vessa Can.oos Sales. 8.^89. Belém.
. Lnja das Revistas. Rua Bado Triunfo. ãlO-A, Joâo Pessoa. Paraíba ráo
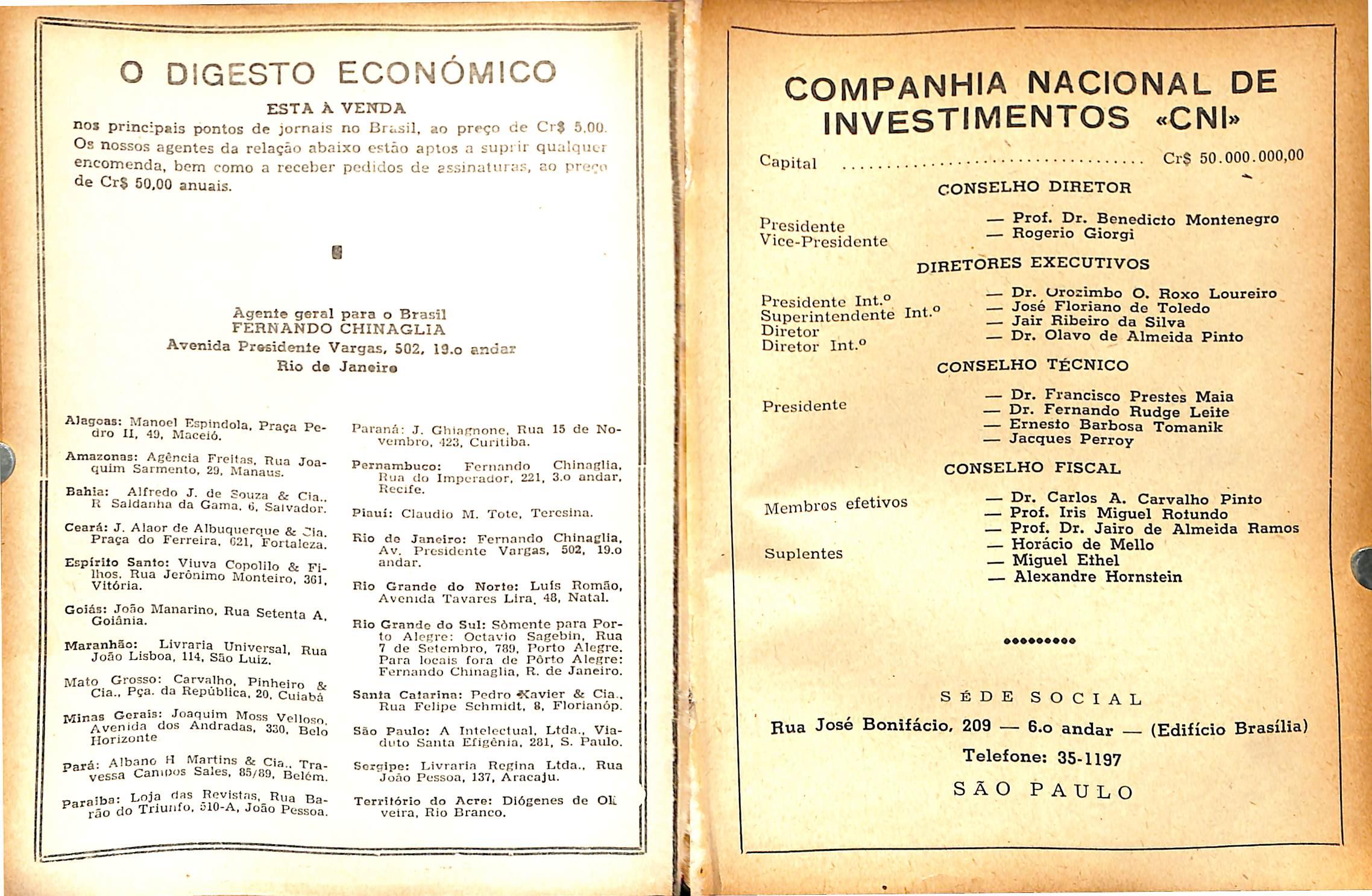
Pernambuco: Chinnglia.
Fernando Hua tio Impciaüor. 221. 3.0 andar. Recife.
Piauí: Cláudio M. Tote. Tercslna.
Rio do Janeiro: Fernando ChlnagUa. Av. Presidente Vargas, andar. 502. 19.0
Rio Grande do Norto: Luís Romüo, Avenida Tavares Lira. 48, Natal.
Rio Grande do Sul: Sòmcnte para Por to Alegro; Octavio Sagebin, Rua 7 de Setembro, 78!l. Porto Alegre. Para locais fora de Pôrto Alegre: Fernando Chinaglia. R. de Janeiro.
Santa Catarina: Pedro Xavier & Cia.. Rua Felipe Scbmldt. 8, Florianóp.
São Paulo: A Intelectual. Ltdn.. Via duto Santa Efigcnla. 201, S. Paulo.
Sergipe: Livraria Regina Ltda.. Rua Joâo Pessoa, 137, Aracaju.
Território do Acre: Dlôgenes de Oli veira, Rio Branco.
o DIGESTO
ECONÔMICO
CONSELHO DIRETOR — Prof. Dr. Benediclo Montenegro — Rogério Giorgi diretores executivos — Dr. Urozimbo O. Roxo Loureiro
José Floriano de Toledo — Jair Ribeiro da Silva — Dr. Olavo de Almeida Pinlo conselho Técnico — Dr. Francisco Prestes Maia — Dr. Fernando Rudge Leite — Ernesto Barbosa Tomanik
Jacques Perroy CONSELHO FISCAL — Dr, Carlos A. Carvalho Pinto — Prof. íris Miguel Rotundo — Prof. Dr. Jairo de Almeida Ramos — Horácio de Mello
Eihel
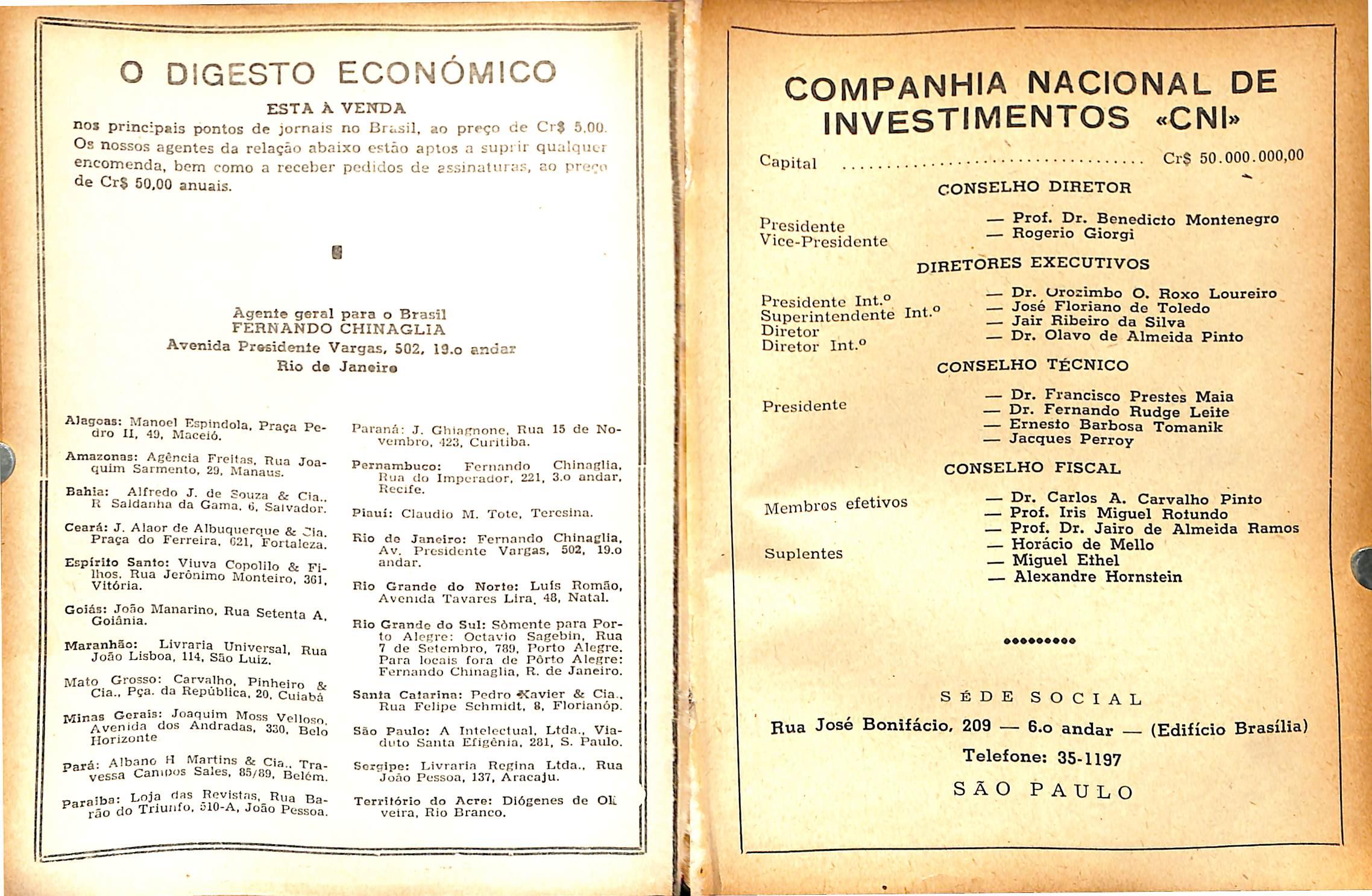
COMPANHIA NACIONAL DE
INVESTIMENTOS «CNI» Cr$ 50.000.000,00 Capital
Suplentes > SÉDE SOCIAL Bua José Bonifácio, 209 — 6.0 andar (Edifício Brasília) Telefone: 35-1197 SÃO PAULO > í
—
—
— Miguel
— Alexandre Hornstein o Presidente Vice-Presidente Presidente Int.° Superintendente Int. Diretor Diretor Int.o Presidente Membros efetivos
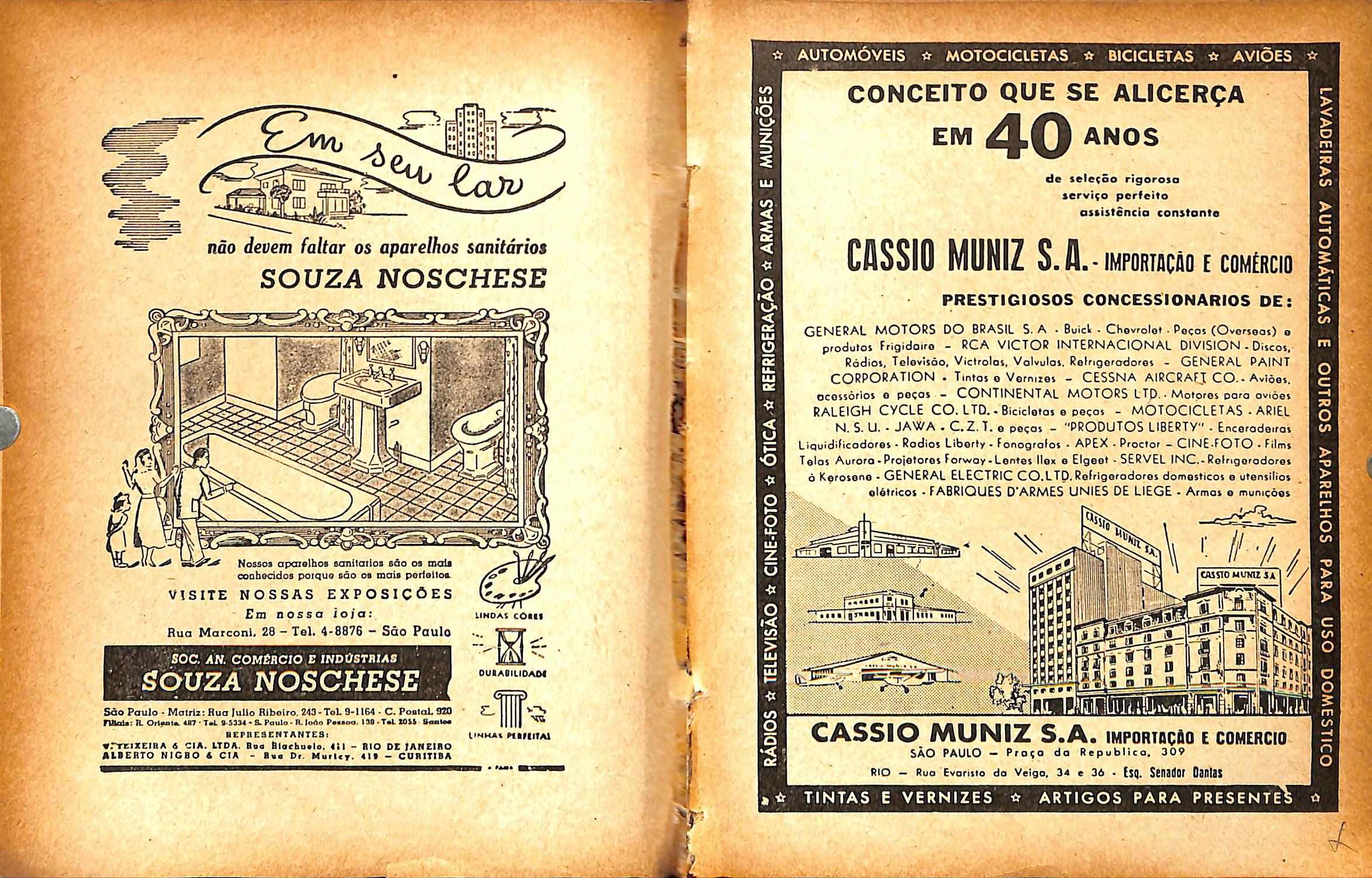
1 f 4 á i não devem faltar os aparelhos sanitários SOUZA NOSCHESE I t * í coohacidoa poique aâo oa mola porlsllo^ V!SITE NOSSAS EXPOSIÇÕES Em aossa iota: Rua Marconi. 28 — Tel. 4*8876 — São PQUlo IIMDAS coaii '80C. ilN. C0M£ACI0 E INDOSTflMS SOUZA NOSCHESE OUIABILIOAM <mrr> ÍL, v“S São Paulo ● Malrl2: Ruo )ullo Riboiro. 243*Tol.9*1164 - C.PoatoL 920 rUbxU: n. Oii^la. *rf ■ ImL 8-S314 ● & Paulo ● R.loOe Poa . isa-ToL aoat smm Vi aEPBCaCMTANTCSi «rreiXElHA A CIA. LTDA. Bao blo«bu«le. 4SI - BIO DE lAtaeiKO ALBERTO NICBO A CIA B«a Dr. MurKy. 4lf - CORITtBA llHMAt PtmiTAl
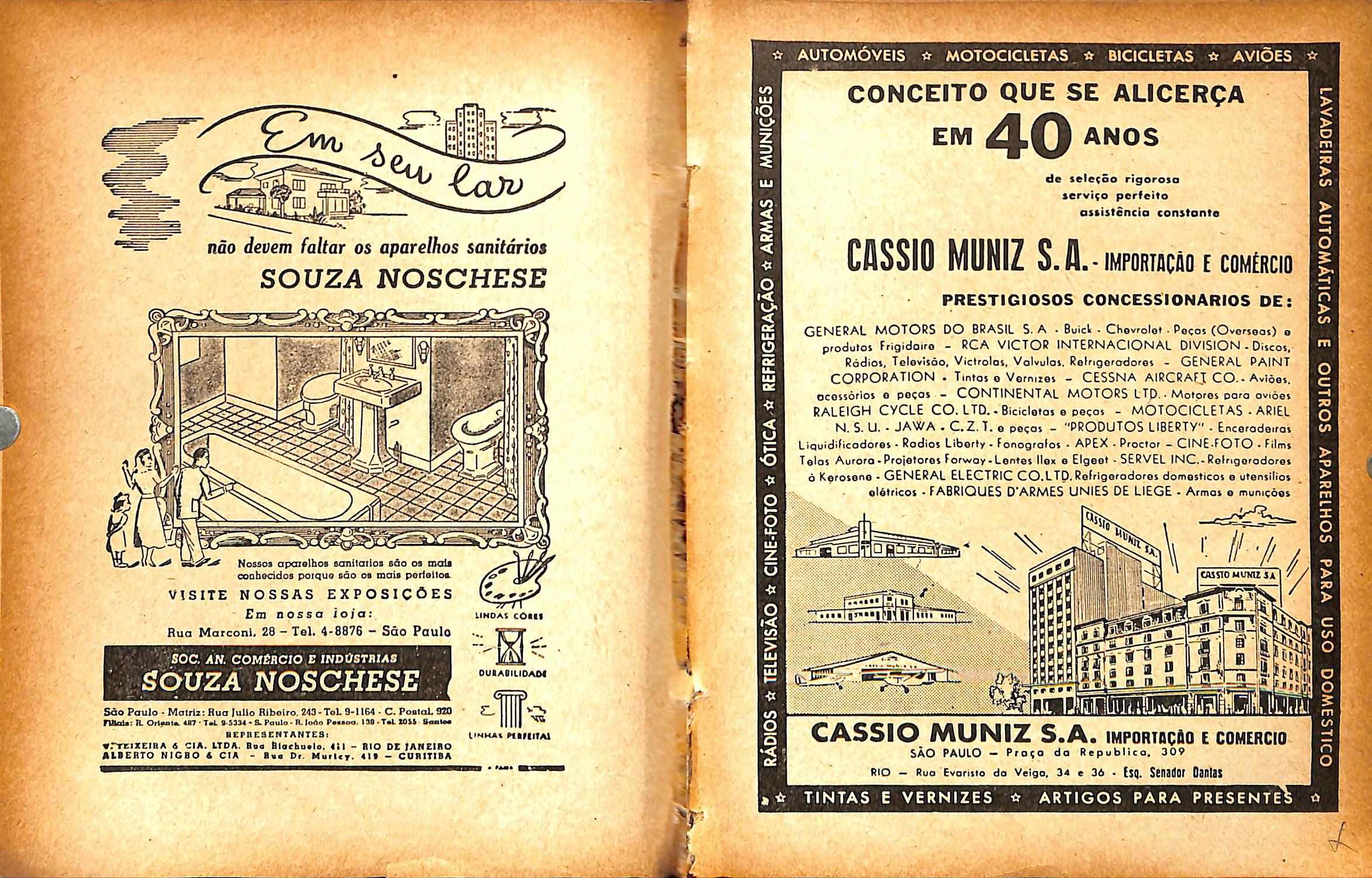
AUTOMÓVEIS <r MOTOCICLETAS * BICICLETAS <r AVIÕES * L> ANOS r de setecSo rigorosa serviço perfeito assistência constante CASSIO MUNIZ S.A.-IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO l< PRESTIGIOSOS CONCESSIONÁRIOS DE: GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A ● Buicl ● Chovrol©» ● Pocos (Ovorseos) e produtos Frigidoiro - RCA VICTOR INTERNACIONAL DIVISlON.Díjcoj, Ràdiot, Tolovlsào, Victroloi, Volvulos. Relngorodores - GENERAL PAINT CORPORATION . Tmtos 0 Vernizes - CESSNA AIRCRAFJ CO.● Aviòet, ocoisórlot 0 pocos - CONTINENTAL MOTORS LTp.. Motores poro ovióes RALEIGH CVCLE CO. LTD. ● Bicicletas e pecos - MOTOCICLETAS ● AfilEL N. S. U. ● JAWA.C.Z. T. o pecos ''PRODUTOS LIBERTY" Encorodeiros Liquidificodores ● Rodios Liberty ● Fonogrolos ● APEX Procter - CINE-FOTO ● Films Tolos Auroro«Proietoros Forwoy «Lentes llei e Elgeet - SERVEL INC.-Rolngorodores ò Kerosene ● GENERAL ELECTRIC CO.LTO.RoFrlgorodores domésticos e utensílios O el&tricos ● FABRIQUES 0’ARMES UNIES DE LIEGE ● Armas e mumcòes ●tr; 3 CASStOMUNU SA t/i ... a te. CASSIO MUNIZ S.A. IMPORTBCAO l COMERCIO SÀO PAULO Proço do Republica. 309 Ruo Evorisio do Veigo, 34 e 36 ● ESQ. SíÃidOr OãIIIíS RIO * i(T TINTAS E VERNIZES ARTIGOS PARA PRESENTE: r f
publicará no próximo númoro:
PLANEJAMENTO DO DESENVOL VIMENTO ECONÔMICO DE PAÍ SES SUlíOESENVOLVIDOS bcrlo clc C)livcira Campos.
EoO Digesio Econômico. órgSo de in formações econômicas e flnanceiÍíif-*A P^licado mensalmente pela Zditôra Comercial Ltda
EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS
Pedro Deniostliene.s Rache..
SOCIEDADE BANDEIRANTE DAS MINAS Franco.

Afonso Arínos do Melo Na transcrição de artigos pede-se
SÍNTESE DA HISTÓRIA ECONÔMI
e Acejta-se Cr$ 50,00 Cr? 58.00 Cr? 5,00 Cr? 3,00 Redação e Administração: Rua Boa Vista, 51. Telefone: 33-1112 — Ramal 19 Caixa Postal, 8240 São Paulo
intercâmbio com nubli9.0 andar .4
* DIGESTO ECOAlâUICe g lUNcg los msúcios
raMiniii ikissi PubUcado sob oi auspíeles dc SSSOCIACÍO COMERGIALDE SlO FAULI ● do FEDERAClO DO CQMÍRCID DO ESTADO DE SlO PAULO
O Digosto Ecoiiómictft
t
iun
(
Dfrolor superlnlendente: Maríim Affonso Xavier da Silveira Diretor: Antonio Gontijo de Carvalho
A direção não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas conceitos emitidos nados. nem pelos em artigos assiA
CA DO BRASIL — Roberto Pinto d Sousa. ASSINATURAS: Digeslo Econômico Ano (simples) ... " (registrado) Número do mês Atrasado:
A COMUNIDADE DE CARVAO E DE AÇO ]
RlCHAlXn LE^\^NSOH^● '
EEsta fórmula ocasionou interpreMuitos comenta- , NiHAHÁ pròxiniamenttí cm vigor “ Comunidade Européia de Carde Aço”, mais conhecida sob Plano Schuman”.
a
A
raratificaçao com a sua
vao e o nome de data definitiva do início das ativida des deste organismo depende da tificação do acordo intergovernamental jielo parlamento belga, inas, mes mo no caso de êste processo ainda de morar, a realização do plano parece assegurada pelos parlamentos da França e da Alemanha, os dois principais países produtores.
autores. 1950, numa com a imprensa em Paris, o bert Schuman, ministro das Relações Exteriores da França, expôs as dire trizes do plano, a primeira impres são foi a de um conceito completa mente novo e muito audacioso. AinCo¬ da não se utilizava o nome de munidade Européia”, mas, o ministro francês dizia textualmente: Pela (“mise en colocação em comum commun”) da produção básica e pe la instituição de uma Alta Autori dade nova, cujas decisões ligarão a França, a Alemanha e os países ade rentes, eSta proposta realizará os primeii'os fundamentos concretos de uma Federação européia^ indispensável à preservação da paz.”

tações exageradas, ristas pensaram que o objetivo seria ^ uma verdadeira fusão de todas as^ indústrias cafboníferas e siderúrgicas ^ da Europa ocidental, espécie de con- . domínio ou, pelo menos, de uma produção cem por cento dirigida por uma autoridade internacional, pretação parecia lógica em vista das ^ condições em que surgiu o plano. Schuman.
( Tal inter-
O problema do Ruhr
O grande problema econômico que inquietava naquela época a França ^ era a futura organização do Ruhr. ; As poderosas empresas de carvão e de aço na bacia do Ruhr (RenâniaWestfália) encontram-se desde o fim da guerra na zona de ocupação britância, mas sua administração achava-se sob o controle absoluto de uma autoridade interaliada, na qual a França era representada, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os industriais alemães insistiam na “li- , bertação” econômica do Ruhr, sem a qual não seria possível levar a pro dução a um nível necessário para a j recuperação da Alemanha, como tam- ■, bém para a defesa do mundo ociden- ^ tal. Os inglêses e, sobretudo, os , americanos apoiavam o ponto de vis- ^ ta alemão e estavam inclinados a .● abolir as restrições impostas à pro- ^ dução e à gestão dos negócios, a de- ■ volver as minas e usinas aos antigos . donos e a deixar a política industrial às autoridades alemãs.
17
\
1
1
Trata-se, sòm dúvida, de um gran de acontecimento, não somente para o futuro da Europa ocidental, como mundial. também para a economia Entretanto, o alcance talvez seja mais limitado dq que acreditavam seus Quando, em 9 de maio de sensacional entrevista sr. Ro>r
O
Tal resolução, porém, teria impHcaíio sérios perigos econômicos como também políticos pax*a a França, restabelecimento do poder econômico do Ruhr sob a direção e responsabi lidade exclusiva dos alemães era con siderado em Paris como um golpe contra a segurança da França e do tóda a Europa. A fim de eliminar' este perigo, o sr. Schuman, com o endosso de seu governo, lançou seu plano, elaborado, aliás, nos seus por menores técnicos, por um grande es pecialista do planejamento, sr. Jean Monnet.
O Plano Schuman foi, assim, de origem, um “Ersatz” para a inter nacionalização do Kuhr. Não obs tante, foi uma oferta das mais
Aderente.s e ausentes
Em i)rincípio, todos os países euro peus, mesmo os do outro lado da cor tina de ferro, são admitidos na Co munidade de Carvão e de Aço. no clima de “guerra fria”, os países ocidentais cortamente não estariam muito intei‘essados na extensãt) da Comunidade para o Leste, dentro da Europa ocidental, nem todo.s os países produtores mostram ansiosos de )>aiticii)a3em dessa Co munidade-. A Inglateira, maior dutor de carvão e de
U si mesma
generosas que um país como a Fran ça podia fazer ao seu ditário”. inimigo hereA Fran ça nao reivindicou para prerrogativa polí tica alguma, nem
vantagens econô micas a título de reparações, como o fêz após a primeira guerra mun dial. Concordou em sujeitar suas próindústrias de carvão e de aço pnas e até suas minas de ferro — as mais da Europa — ao mesmo regiinternacional ao qual seriam indústrias alemãs.
ricas suCom me jeitas as usual habiUdade diplomática, os .sua franceses evitaram tudo que pudesse sensibilidade germânica ou desconfiança dos outros Não se falou mais
Mas, -so proaço na Eu,, pa ocidental, ficou fora dela. países escandinavos imitaram pio britânico o abstiveram Suíça, cuja çãü neste domíni é pouco impüí-tí te, também fio,,,, fora da Comunidi de, a Áustria a Iugoslávia iguaj.! mento. A E
oOs o exem-He. A P»'ocluo inie «Panha
não foi convidada Todavia, um ano do aixis Pono s .sa f o i monegociações, assinaclò na fa sa sala do Relógio do Ministério dos Negócios Exterio res em Paris, em 18 de abril de 1951 um acordo entre seis países que trolam cerca de 60% da produção de cai‘vão e 70% da de aço da Eur ocidental. Os países signatários foi-am: a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.
Já a simples enumeração mostra que se ti*ata de países de vulto
conopa eco
chocar a a provocar países produtores. nômico e político bem diferente. A produção dos principais produtos dos países-membros da Comunidade foi em 1950 a seguinte: Ruhr, e sim unicamente nos intecomuns da Europa. no rêsses

(; Du.i ^^to !●> oxoMirn
Países
Produção em milhões de toneladas I
I Carvão| Minério I de pedra i de ferro
Alemanha ocid. (*) .. | 110,8 | França .... Bélgica ... Holanda ... Luxemburgo Itália
G5,9 27,3 12,2 1.0
Ferro | Aço gusa i
2,9 9,5 12,1 9,8 10,6 9,5 3,8 3.7 0,5 0,5 1.1 2,5 I 2,5 0,2 0,6 2,4
Total 217,2 14,0 ● 26,3 31,0
(®) Inclui o Sarro.
Como se vê, a Alemanha mantem uma posição preponderante na produ ção de carvão de pedra (519'o do to tal), e sua capacidade no setor de combustíveis sólidos é ainda maior em consequência de sua grande pro dução de lignita, que pertence tam bém ao domínio da Comunidade. Em bora as maioi;es jazidas de lignita se achem na Saxônia, na zona soviética da Alemanha, a Alemanha ocidental produz anualmente 70 milhões de to neladas de lignita, que correspondem a cerca de 15 milhões de toneladas de hulha. A produção de lignita dos ou tros países-membros é insignificante.
milhões de toneladas de aço em 1951). Espera-se, após a supressão das res trições, naquele país, já este ano, uma produção de 14-15 milhões de toneladas e sua capacidade pode subir no decorrer de alguns anos para 20 milhões, nível que a França não atin girá sem grandes construções novas.

A Bélgica é o térceiro país da Co munidade, como produtor de carvão, assim como de produtos siderúrgicos. A Holanda tem certa importância co mo produtor de carvão — exporta normalmente parte de sua produção — mas sua produção siderúrgica é muito mais limitada que a do Luxem burgo. A Itália, enfim, é, em quase todos os produtos da Comunidade, im portadora.
Produção e poder
No que diz respeito à a
Quanto ao minério de ferro, a Fran ça é, de muito, a produtora mais im portante, e sua posição neste setor é ainda mais poderosa graças às suas minas na África do Norte, as quais, porém, não são abrangidas pela Co munidade, produção siderúrgica (gusa e aço), a posição da Alemanha e da França foram aproximadamente iguais, mas da Alemanha tende a crescer (13,5
dêste
Wi? J)k;ksto Ec;onómico I
i
Contràriamente à regra aplicada em organizações econômicas gênero, a distribuição de votos não corresponde de maneira alguma à produção efetiva ou à capacidade de produção. Ao que parece, o número 1 í
I
ff, dos votos na administração da Comu' nidade foi determinado mais de acôr^ do com considerações de oi*dem po-» lítica. Cada país-membro é repre»i sentado na Assembléia da ComuniIr dade por certo número de delegados, jh € cada delegado tem üm voto. O núm mero dos delegados e, conseguinte mente, dos votos, é o seguinte:
.' Alemanha ocidental França, incl. o Sarre .... Itália Bélgica Holanda Luxemburgo
pelos çovcrnos e, além disso, há um Conselho permanente de rojn-esontnntes dos países-membros — um mem bro pai-a cada país para as decisões meramente políticas, c um Tribunal para interpretar as cláusulas do Acordo.
! t, li
Total 78
Todo êste aparêllio bem compli do, porém, não é senão de importân cia secundária. O poder executivo c confiado à Alta Autoridade, posta de nove membros, sendo oito dêles nomeados "de acordo
cacomcomum
18 18 18 pelos governos, e um cooptado. idéia primordial dos autores do I‘lan ei’a aparentemente de criar uma nocracia autônoma, um grêmio de pe ritos completamente independento.s Mas, é pouco provável que êste ó 'ficará inteiramente apolítico e por exemplo, os membros da : nacionalidade — são admitidos, no máximo, dois do mesmo país 'djg
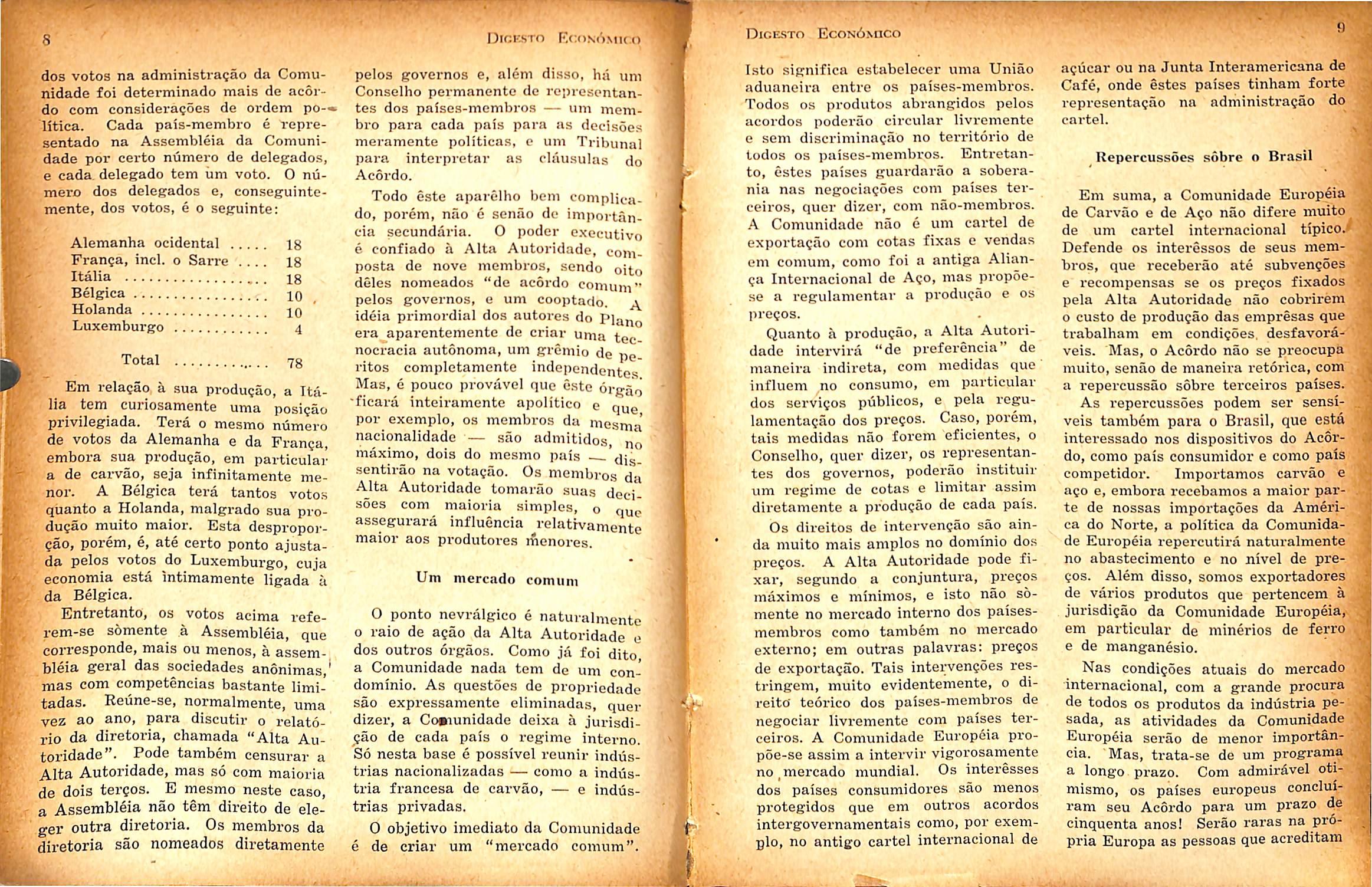
10 10 4
Em relação à sua produção, a Itá lia tem curiosamente privilegiada, de votos da Alemanha e da França, embora sua produção, em pai-ticulaia de carvão, seja infinitamente nor. A Bélgica terá tantos voto:s quanto a Holanda, malgrado dução muito maior. Esta despropoj-ção, porém, é, até certo ponto ajusta da pelos votos do Luxemburgo, economia está intimamente ligada à da Bélgica.
uma posição Terá o mesmo número mesua procuja
Entretanto, os votos acima refe rem-se somente à Assembléia, que corresponde, mais ou menos, à assem bléia geral das sociedades anônimas,* mas com competências bastante limi tadas. Reúne-se, normalmente, uma
A o tec0'*gão que, uiesnia sentirão na votação. Os niembro.s dâ Alta Autoridade tomarão suas decimaioria simples, o que assegurará influência relatrvamente maior aos produtores menores.
soes com
Um mercado comum í
um conquer
Pode também censurar a caso,
vez ao ano, para discutir o relató rio da diretoria, chamada “Alta Au toridade”. Alta Autoridade, mas só com maioria de dois terços. E mesmo neste
a trias privadas.
dizer, a Co*iunidadc deixa ã jurisdi ção de cada país o regime interno. Só nesta base 6 possível reunir indús trias nacionalizadas — como a indús tria francesa de carvão, — e indúsAssembléia não têm direito de ele ger outra diretoria. Os membros da diretoria são nomeados diretamente
.1? È
OlOKSTO í**CnSí'>Mi< C) s
\
O ponto nevrálgico é naturalmente 0 raio de ação da Alta Autoridade e dos outros órgãos. Como já foi dito a Comunidade nada tem de domínio. As questões de propriedade são expressamente eliminadas, f. r
0 objetivo imediato da Comunidade é de criar um mercado comum”. (i
[sto sipnifica estabelecer uma União aduaneira entre os países-membros. Todos os produtos abrangidos pelos acordos poderão circular livremente e sem discriminação no território de todos os países-membros. Entretan to, êstes países íjuardarão a sobera nia nas negociações com países ter ceiros, quer dizer, com não-membros. A Comunidade não é um cartel de exportação com cotas fixas e vendas foi a antiga Alian- em comum, como
ça Internacional de Aço, mas propõese a regulamentar a produção e os jireços.
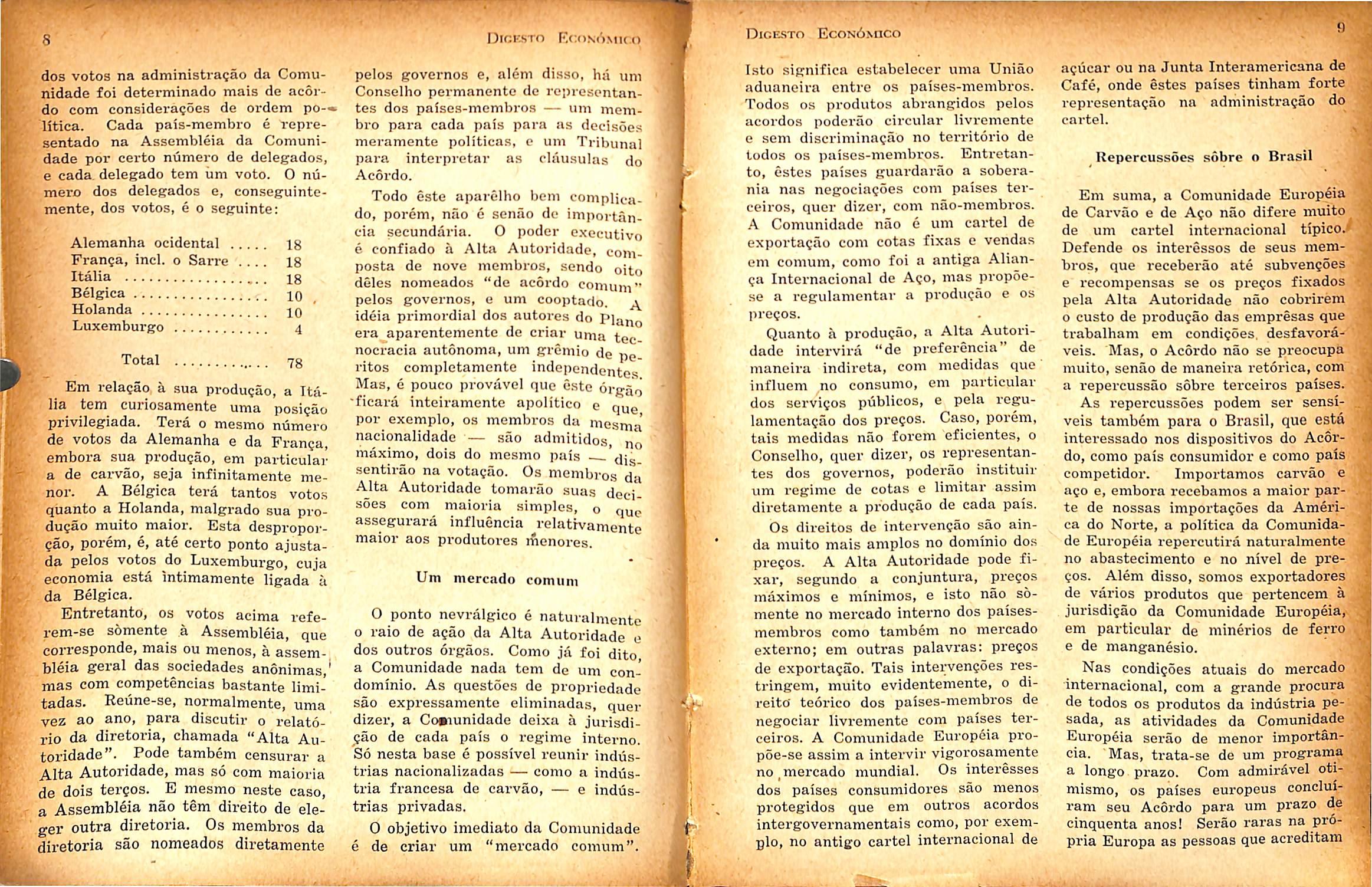
Quanto à produção, a Alta Autoride preferência indireta, com medidas que em particular
de dade intervirá maneira influem no consumo dos serviços públicos, e pela regu lamentação dos preços. Caso, porém, tais medidas não forem eficientes, o Conselho, quer dizer, os representan tes dos governos, poderão instituir de cotas e limitar assim um regime diretamente a produção de cada país.
Os direitos de intervenção são ain da muito mais amplos no domínio dos A Alta Autoridade pode fi- preços. xar, segundo a conjuntura, preços máximos e mínimos, e isto não so mente no mercado interno dos paísesmembros como também no mercado externo; em outras palavras: preços de exportação. Tais intervenções res tringem, muito evidentemente, o di reito teórico dos países-membros de negociar livremente com países ter ceiros. A Comunidade Européia pro põe-se assim a intervir vigorosamente no mercado mundial. Os interesses
açúcar ou na Junta Interamericana de Café, onde êstes países tinham forte representação na administração do cartel.
Hepercussões sôbrc o Brasil
Em suma, a Comunidade Européia de Carvão e de Aço não difere muito de um cartel internacional típico. Defende os interêssos de seus mem bros, que receberão até subvenções e recompensas se os preços fixados pela Alta Autoridade não cobrirem o custo de produção das empresas que trabalham em condições desfavorá veis. Mas, o Acordo não se preocupa muito, senão de maneira retórica, com a repercussão sôbre terceiros países. As repercussões podem ser sensí veis também para o Brasil, que está interessado nos dispositivos do Acor do, como país consumidor e como país competidor. Importamos carvão e aço e, embora recebamos a maior par te de nossas importações da Améri ca do Norte, a política da Comunida de Européia repercutirá naturalmente no abastecimento e no nível de pre ços. Além disso, somos exportadores de vários produtos que pertencem à jurisdição da Comunidade Européia, em particular de minérios de ferro e de manganésio.
cia. a longo prazo. mismo dos países consumidores são protegidos que em intergovernamentais como, por exem plo, no antigo cartel internacional de f
menos outros acordos , os países europeus ram seu Acordo para um prazo de cinquenta anos! Serão raras na pró pria Europa as pessoas que acreditam
i) Dicesto Econômico
Nas condições atuais do mercado internacional, com a grande procura de todos os produtos da indústria pe sada, as atividades da Comunidade Européia serão de menor importânMas, trata-se de um programa Com admirável oticoncluí-
na possibilidade de fazer hoje proje tos exequíveis extenso. para um período tão O dramaturgo Ibsen disse

4
uma vez: Uma boa verdade mantémse cinco anos — e este prognóstico aplica-se também aos organismos eco● nómicos do tipo da Comunidade Eui K tf 4 l% I 7 1 -í»» . \ >4 U'rJ ' \ \ 1 r / i.., f /
1 UI DiCESTO EcONÓMUM) I
ropéia. Ainda na melhor das hipóte ses, a nova oríjanização sofrerá cer tamente incisivas alterações. ^las, seja qual fôr a duração da sua vida, em futuro pi*óximo ela poderá exer cer influência considerável na mia mundial. ccono-
Planejamento do desenvõfvimíín! econômico de países sub-desenvoívidoí
UOHliHTO OK OlIVIÍIHA CaMPOS
(Conselheiro da Secção Brasileira da Comissão, mista Brasil-Estudos Unidos e professor da Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro)
INTRODUÇÃO
Os economistas c a arte ou ciência da administração pública
A I-HATIOINIDADE das ciências sociais nunca foi das mais pacíficas e i Uma espécie de ciú- compreensivas. profissional tem separado os cultoi’es dos seus diversos ramos, cada ressaltar

os em Entre os na
me qual preocupado avanços de sua ciência preferida na solução dos problemas sociais, economistas, cada vez mais intoxicados pelo relativo sucçsso obtido quantificação de seus teoremas, em contraste com o tratamento des critivo ou qualitativo a que se têm que confinar outras ciências sociais, êsse isolamento tem sido maior.
O ‘"Digcsio Econômico*’ tem a honra de iniciar em suas páginas a publicação do magistral estudo do ilustre econornista c diplomata apresentado ao Seminário Internacional sôbre organização, direção c funcionamento dos serviços auxiliares c órgãos de Estado Maior (Staff), reali zado sob 0 patrocínio das Nações Unf-1 dos, do Governo Brasileiro e da Uncscol No próximo número, a direção da Re-| vista espera concluir a publicação de tão valiosa monografia.
La dos pudessem ser empreendidas com perspectivas de êxito. "T Escusado é dizer que essa vincula^ çâo do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento da técnica e arte de
IZfíUm incidente pode ilustrar conve nientemente tal estado de espírito.
administração foi encai‘ada pelos eco nomistas dos países desenvolvidos tantes de países subdesenvolvidos
Delegação do Brasil apresentou uma proposta durante a VI sessão do Con selho Econômico e Social, em feverei ro de 1948, tendente a criação de um Centro Internacional de Adminis tração Pública. Na justificativa des sa proposta insistia-se na importân cia vital dos melhoramentos dos pro cessos administrativos, antes que ini ciativas de assistência técnica ou de financiamento do desenvolvimento
com indisfarçado ceticismo. Uns porJ que não acreditaram na existência de um corpo de doutrina administrati -j va suficientemente coerente para ser
I i
econômico dos países snbdesenvolvi-
r 71 y .
»● s:+>●'
ii Y
TV
!<■
^
Quando nas Nações Unidas se avolu mou o interesse no exame do proble- e talvez mesmo por alguns represen ma do desenvolvimento econômico, a LÍ‘y-.
sistematicamente ensinado e apreen-J dido, e muito menos transmitido inj ternacionalmente; outros porque, deiros inconscientes de uma ti^adição I institucional de administração organi-j zada, e de uma experiência acumula-S da na gestão de empresas, propen-^ diam a considerar as técnicas admi- .■
nistrativas como idéias inatas, mais ou menos óbvias e de qualquer manei ra insuscetíveis de exercer papel fun damental, quer na promoção quer no retardamento do desenvolvimento eco¬ nômico.
Como sempre, os fatos, teimosos. SC encarregaram de destruir teorias e preconceitos. As missões de assis tência técnica enviadas pela ONU Agências Especializadas ao Haiti, ao Sião, à Bolívia, revelaram a fatuidade de se pensar em planejamento ' nómico e em desenvolvimento mico intensivo sem o prévio lhamento da máquina administrativa e consequentemente sem o ensino da administração. Foi assim o contacto com o problema dos países subdesen volvidos que levou os economistas redescobrirem a ciência da adminis tração.
e ecoeconôreaparak a ou menos
])ert advisers and assistancü in tho establishment of special institutes, it should be-possiblo for tbe Uni ted Nations to he]p under-developod countries increase the efficioncy of their administrativo Services, mobilize their financial resources, improve their systems of public finance and, in íreneral, cstablish the economic and social climatc essential' for the promotion of eoonomic dcvelopment.” (1)
í
Hoje a conversão é mais
completa. Bastaria citar o já famoso “livro cinzento” relativo ao progra ma ampliado de assistência técnica da ONU e Agências E.specializadas, onde se declara textualmente: sentada das relações entre planeja mento e administração.
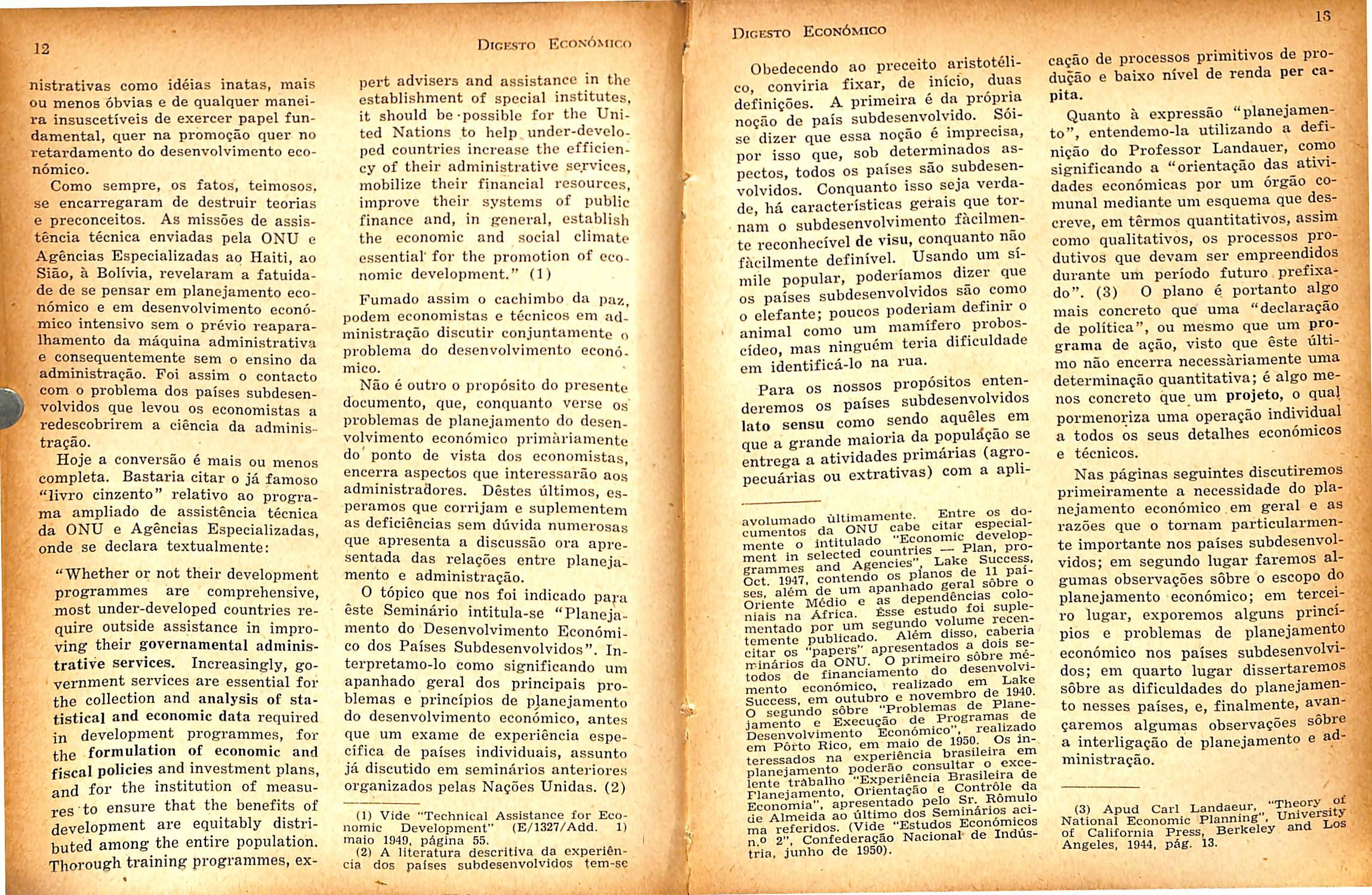
“Whether or not their development programmes are comprehensive, most under-developed countries require outside assistance in improving their governamental adniinistrative Services. Increasingly, government Services are essential for the collection and analysis of statistical and economic data required in development programmes, for the formulation of economic and fiscal policies and investment plans, and foi’ the institution of measures to ensure that the benefits of development are equitably distributed among the entire population. Thorough training programmes, ex-
Fumado assim o cachimbo da j)az. podem economistas e técnicos em ad ministração discutir conjuntamonto problema do desenvolvimento econô mico.
o
Não é outro o propósito do presente documento, que, conquanto verso os problemas de planejamento do desen volvimento econômico primàriamente do ponto de vista dos economistas, encerra aspectos que interessarão aos administradores. Destes últimos, peramos que corrijam e suplementem as deficiências sem dúvida numerosas que apresenta a discussão ora
csapre-
O tópico que nos foi indicado êste Seminário intitula-se para Planeja
mento do Desenvolvimento Económi co dos Países Subdesenvolvidos”. In terpretamo-lo como significando apanhado geral dos principais
1um pro blemas 0 princípios de pjanejamento do desenvolvimento econômico, antes que um exame de experiência espe cífica de países individuais, assunto já discutido em seminários anteriores organizados pelas Naçõe.s Unidas. (2)
(I) Vide "Technlcal Assistance for Eco nomic Developmenf (E/1327/Add. 1) maio 1049, página 55, (2) A literatura descritiva da experiên cia dos paises subdesenvolvidos tem-sc
DtCKSTO Kconómico 12
L'
Obedecendo ao preceito aristotéliconviria fixar, de início, duas definições. A primeira é da propna noção dc país subdesenvolvido. Boi se dizer que essa noção é imprecisa, sob determinados assão subdesen-
co, por isso que, pcctos
cação de processos primitivos de pro dução e baixo nível de renda per pita.
ca-
sí¬ mile os países elefante; poucos o em
, todos os países volvidos. Conquanto isso seja verda de, há características gerais que tor nam o subdesenvolvimento facilmen te reconhecível de visu, conquanto nao facilmente definível. Usando um popular, poderiamos dizer que subdesenvolvidos são como poderíam definir o animal como um cídeo, mas ninguém teria dificuldade identificá-lo na rua.
Quanto à expressão “planejamen”, entendemo-la utilizando a defi nição do Professor Landauer, como significando a “orientação das ativi dades econômicas por um órgão co munal mediante um esquema que des creve, em termos quantitativos, assim qualitativos, os processos pro dutivos que devam ser empreendidos durante um período futuro prefixa do”. (3) O plano é portanto algo declaração
to como mais concreto que uma
de política”, ou mesmo que um proêste últigrama de ação, visto que necessariamente uma mo nao encerra determinação quantitativa; é algo me nos concreto que um projeto, o qual individual pormenoriza uma operação
propósitos entensubdesenvolvidos Para os nossos deremos os países sendo aqueles em todos os seus detalhes econômicos a lato sensu como grande maioria da populáçao se atividades primárias (agroextrativas) com a apli-
que a entrega a pecuárias ou
avolumaUo^üunnan.ent.
mente o itu^ado ^conomic^deye^^P- ment in sdected cou t l success dependâncias coloestudo íoi supleses, além de um Oriente Médio e m?nta3o -e?{nd^^d^S^Seriã todos dc financiamento do de^nvoivi mento econômico, realizado em i-aKe Success. em outubro e nf^embro de 1940. O segundo sôbre ‘l^^obleina" de Plane iamento e Execução de Desenvolvimento E‘^°pbnnco . re cm Põrto Rico, em rnaio de 1Ü50 Os
íSi£ips:iílàEi
e técnicos.
Nas páginas seguintes discutiremos primeiramente a necessidade do pla nejamento econômico,em geral e as razões que o tornam particularmen te importante nos países subdesenvol vidos; em segundo lugar faremos al gumas observações sobre o escopo do planejamento econômico; em tercei ro lugar, exporemos alguns princí pios e problemas de planejamento econômico nos países subdesenvolvi dos; em quarto lugar dissertaremos sobre as dificuldades do planejamen to nesses países, e, finalmente, avansôbre çaremos algumas observações
as a interligação de planejamento e a< ministração.
ad oí
ma referidos. (Vide “Estudos n.o 2”, Confederação Nacional de Indus tria. junho de 1950).
(3) Apud Carl Landaeur. __ "Theory . National Economie Planning , ^ , t qs Berkeley and of Califórnia Press, Angeles. 1944, pág. 13.
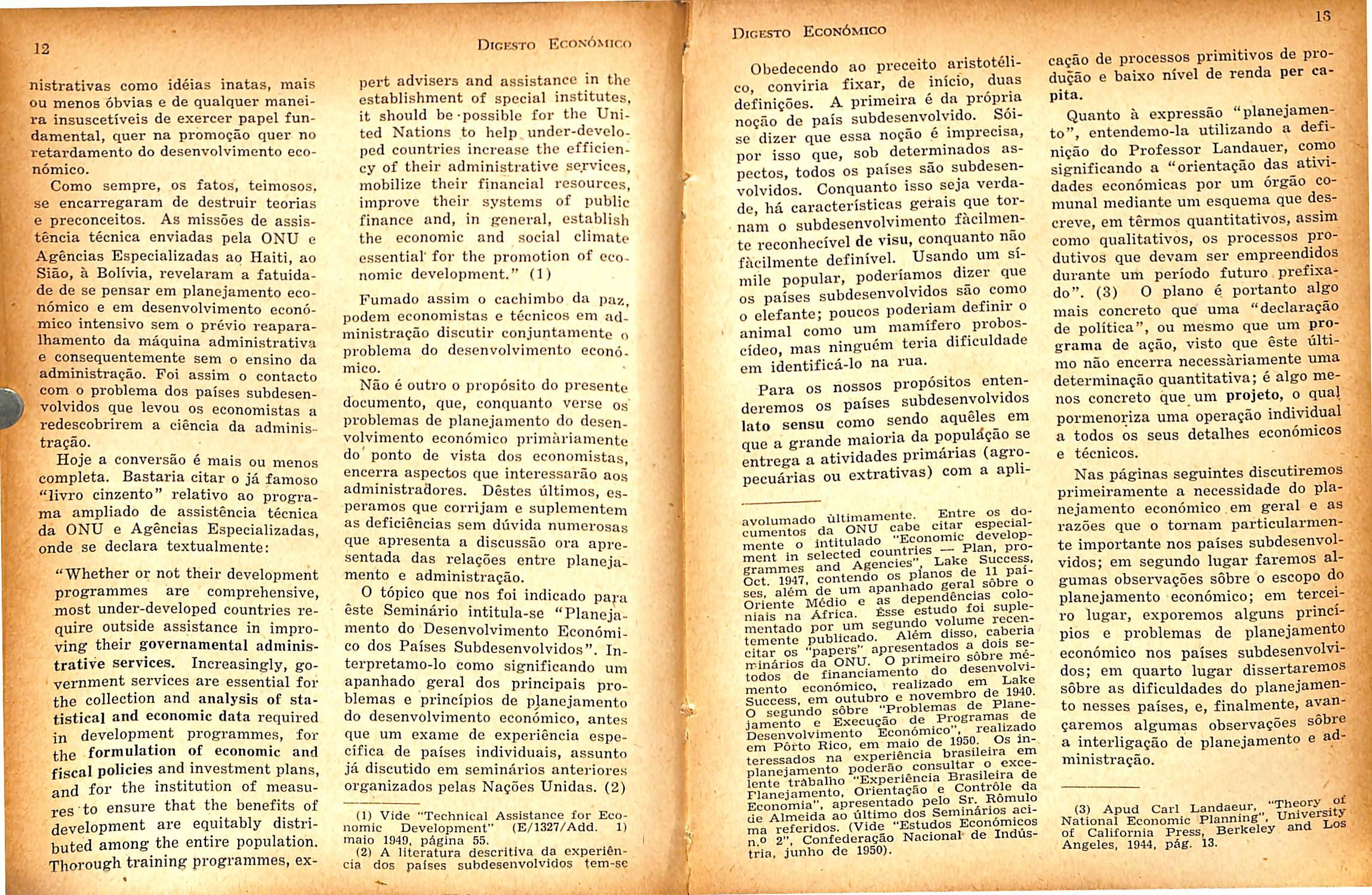
IS Dicesto EcoNÓ^^co
I — Díi necessidade do planejamento econômico com Adam Smith c a maioridad<? com Ricardo, na é de sobejo conhecida, exercendose não só na Inglaterra mas tambóni no Continente
Nada mais pleonástico para tudiosos da Administi-ação Pública do que demonstrar a necessidade utilidade do planejamento econômico. A ciência administrativa sòmènte atingríu a maturidade nos tempos dernos, em que a intervenção quase onipresente do Estado é um datum sociológico indisputável, jamento é por assim dizer método racional de
os esou moE o planeapenas um expressar a vo
lição coletiva, dada a impersonalidade da ação estatal, a substituição peiiódica dos encarregados do do e a necessidade de .traduzi uso coletivo as
ca A influência smithiaDe líicard europeu,
eco-
coman-r para intenções dos diri 1 fc gentes, w Para os ^ a economistas, entretanto, a necessidade do planejamento nómico é muito menos óbvia. Haja vista a famosa controvérsia entre a Escola Austría ca, com Hayek e Von Mises à fren-
basta referir o dito de Keynes gundo o qual havia Ricardo dominado o pensamento econômico britânico tão completamente quanto a Inquisição conquistara a Espanha. As.sim, seus anos formativos, a ciência económica se imbuiu profundamonte de duas premissas implícitas na doutrina econômica clássica: a premissa do providencialismo (ou da harmonia preestabelecida, conformo preferem dizer os agnósticos) segundo a as ações econômicas dos indivíduos ao promoverem sua jnosporidade' convergem pai-a uma distribuição cia otima dos recursos o fatores* n a premissa do automatismo do cado
o seeni somevsegundo a
qual forças imanentes tendem corrigir sempre desequilíbrios nómicos resultan te,'e tôda a ^escola L"' da incoerência socialista, a pri- decisões indimeira negando, e a j' - ● ^ viduais das unidasegunda afirman- ^ econômicas no do, a possibilidade ●'.-i-ívicí mercado, de um sistema eco-
a \ os
À parte as comnómico racional, mesmo quando anu- j ● . plicações incômolada, pelo planejamento e pela inter- ● m’mdas por distorsões monopolísvenção estatal, a formação livre de ^ do bem-estar coletipreços no mercado e o contingência- Poderia e deveria mento dos fatores de produção atra vés do mecanismo dos preços.
o com o livre jôgo das síveis.

As razões sao facilmente compreenA ciência econômica, pelo
menos no seu ramo mais avançado, que é indiscutivelmente o anglo-sa-
xônico, atingiu a puberdade científi-
Geoser deixada a cargo da livre iniciativa individual, sendo perigoso e imprudente para Estado intei'forir fôrças no mercado.
sova-
14 E(:‘)N<VMird Dioksto
V
”
Até 0 aparecimento das escolas cialistas, que ousaram duvidar da lidade tanto do postulado providen- k
cialistu como do aiitomatista, não foi doutrina sèriamentc disputada, a que essa não ser por herejes ocasionais não lograram diploma de respeitabi lidade.
É claro que mudou hoje radicalmente a situação, graças a vários faDe um lado, a teoria e prática tôres. tâneo.
econômico imune de intervenções planificadoras. Ainda é cedo, arpuem êles, para a conclusão de que o desen volvimento planificado — de que o único exemplo em larga escala e a experiência soviética — tornado obsoleto o desenvolvimento espon-

do socialismo tornaram clara a pos.sibilidade do uma solução racional do liroblema da formação de preços e do contingenciamonto de fatores nas eco nomias planejadas. Entre as próprias economias capitalistas, dqs depressões econômicas uma aceitação prática e da intervenção corretiva através de formas variadas Além disso, o novo internacional dos
a recorrência forneceu a base para teórica do Estado, de planejamento, surto de interesse países subdesenvolvidos, insatisfeitos lento ritmo do desenvolvimento econômico espontâneo, propiciou reexame, pelos economistas, dos fun damentos da planificação econômica.
Eni que pese a essa evolução, ainda é lícito dizer que a aceitação das van tagens do planejamento é menos uni versal entre os economistas que entre os cultores da ciência da Administra ção Pública. Mesmo no campo do de senvolvimento econômico, no qual a experiência soviética provou a possi bilidade de um aceleramento no ritmo da evolução através da planificação, há ainda economistas fortemente apeliberalismo econômico ti*aCitam êles o fato de que as mais espetaculares
do los XIX e XX, a
com 0 um gados ao dicional. experiências desenvolvimento econômico dos sécusaber, a revolução industrial da Inglaterra, o desenvol vimento agrícola e industrial dos Es tados Unidos e a expansão industrial mais recente do Canadá, foram, em linha'^5 gerais, executadas num clima
ceio de repercussões
Como quer que seja, é indiscutível que o grupo antiplanificador se torna rapidamente uma minoria na atribu lada fraternidade dos economistas. As objeções teóricas sobre 'a irraciona lidade do sistema de preços e distri buição de fatores nas economias planificadas foram destruídas em gi^ande parte pela anaálise de Barone, Taylor e Lange. As objeçÕes que ainda subsistem são antes de ordem práti ca, relacionadas com a sobrecarga de decisões burocráticas inerente ao pia-, nejamento, refletindo também o redesfavoráveis desse último sobre a liberdade po lítica. (4)
De modo gei'al, entretanto, a inten ção de planejar passou a ser um datum político e sociológico, não restan do aos economistas outro recurso que aplicar o seu instrumental analítico ^ ao desenvolvimento de uma técnica planificadora. A questão é hoje me nos de saber se os governos devem ou não intervir no domínio econômi co,-através do planejamento, que de terminar a forma e escopo dêsse pl»" nejamento.
Nos países de economia desenvol vida, 0 planejamento governamental.
(4) Vide Lange "On the economiç t ry of socialism", ed. J^lpplncott, ,.rtnlis, 1Ü38, p, 90. Para um resumo trovérsia teórica sôbre planejament . ^ de A. Bergson, "Socialist Economlcs "Survéy of contemporary Economics . The Blakiston Co., ps. ●112-448.
15 DlCliSTO EcU)NÓMICO
VI-
na medida em que é aceito, incide pre dominantemente sobre medidas para a manutenção do pleno emprego. (6) Êsse planejamento pode ser parcial e supletivo, como no caso dos Estados Unidos, ou abranger uma regulação geral da vida económicq, inclusive do comércio exterior, como na Grã-Bre tanha. Nos países subdesenvolvidos é óbvio que o planejamento visa,. pri mordialmente, acelerar o ritmo de de senvolvimento econômico, demasiado lento (assim pelo arguem os planificadores), se deixado à iniciativa espontânea.
já desenvolvidos, cas serão discutidas sob os
Essas característirótulos
(a) debilidade da iniciativa privada, (b) concentração de recursos, (c) fa culdade telescópica e (d) velocidade de desenvolvimento.
(a) — Debilidade da iniciativa privada
que seria menos contingenciar
O problema central do planejamen to dos países subdesenvolvidos é basi camente o problema medular de tôda a ciência econômica:
recursos escassos entre objetivos con correntes, e escalonar sua utilização eficiente no tempo e no espaço. Conquanto demos por aceitas, maior discussão, as ligeiras observa ções acima, as vantagens gerais do das quais, aliás, nunca duvidaram os adminis tradores, pode ser de alguma utilida de acentuar certas características es peciais dos países subdesenvolvidos, que tornam o planejamento econômi co e a intervenção estatal mais pre mentes e importantes que nos países
sem planejamento econômico.
Na maioria dos países subdesenvol vidos é característica a escassez de experiência na gestão de empresas Associada quase sempre essa debili dade a uma desigual distribuição de renda, o poder de iniciativa econômi ca fica ordinariamente confinado um círculo demasiadamente pequeno Nessas condições, a iniciativa pública que, nos países mais desenvolvidos pode confinar a uma função *
a SC mera
mente supletiva (limitada ordinaria mente aos projetos de “economic and social overhead”), necessita nos paí ses subdesenvolvidos de intei*vir para compensar a debilidade da iniciativa privada, aplicando estímulo simultâ neo a vários campos de investimento.
(b) — Concentração de recursos

(5J o “rationale” do planejamento economias avançadas íundamenta-se geral em três considerações ligadas todas à emergência do “welíare state” era substituição ao "estado-polícia”: a) com bate ao desemprego cícliòo experimen tado no passado pelos regimes econômi cos não planificados; b) distribuição mais cauitativa da renda nacional; c) coorde nação da aplicaçao de recursos, evitandose o
nas em nacão da aplicaçao de recursos, evitandoj desperdício inerente à duplicação dc facilidades provocada pela livre concor rência Vide J. E. Meade, “Planning and . price Mechanism”, Macmillan, N.Y., Íq49 p 2. e Landauer. "Theory of Na tional Economic Planning", University of Califórnia Press, 1944, chapter I.
A pouca densidade de capital-nos países subdesenvolvidos, e, consequen temente, 0 baixo nível de poupança (agravado habitualmonte por defi ciência no mecanismo de canalização de crédito) dificultam a captação das doses de capital necessárias vestimentos concentrados, servação não é incompatível fato de que na maioria dos subdesenvolvidos prevalece grande desigualdade na distribuição da da, com uma exagerada proporção da riqueza nacional em poucas mãos. Is so porque não só essas unidades de
para inEssa obcom o países ren-
30 Dicesto Econômico
concentração de capital são poucas para atender a tôda a faixa de inver.sões necessárias, como a concentra ção de ronda está habitualmente as sociada a uma alta ])ropensão ao con sumo ostentatório, frequentemente sob a forma de bens importados, que representam uma subtração ao poinvestimen- tencial doméstico de
to.s. (ü)
Avulta, nestas condições, a impor tância do mecanismo fiscal de captade fundos, que permite ao Estado bacia de concentração de recursos suscetíveis de aplicação Daí decorrem simuUânea-
diato impedirá a formação de econo mias suficientes para aumentar a ca pitalização e a produtividade da eco nomia. Em outras palavras, se admi tida a ilimitada soberania do consu-
midor, o futuro será sacrificado em benefício do presente.
O Governo, entretanto, manipulan do fundos coletivos (que escapam à decisão individual) e dotado de perpetuidade orgânica, . encontra mais facilidade em desenvolver aquilo que o Professor Pigou denominou de “fa culdade telescópica”. Através da tri butação, pode o Governo comprimir o presente em benefício da consumo
çao tornar-se uma maciça. acumulação de capital para investi mentos. (7) Além disso, pode o Go verno apressar o ritmo de capitaliza ção, fazendo investimentos criadores de economias externas, mesmo quan do financeiramente não remunerati-
mente a necessidade de programas governamentais para a aplicação des ses recursos, e de um esquema de prioridades que discipline essa apli cação.
(c) A faculdade telescópica
Nos países em que a poupança é exígua, e a margem acima da subsis tência estreita, é inevitável que as de cisões das unidades econômicas sejam afetadas por uma visão imediatista. No terreno dos investimentos, as in versões a curto prazo, com um hori zonte próximo de rentabilidade, tendei*ão a deslocar investimentos cos de mais longo ciclo de rentabili dade. No setor-do consumo, a pres são das necessidades de consumo ime-
britâ-
vas a curto prazo.
O grau de flexibilidade no adiamen to do consumo ou na preterição de certos investimentos de rentabilida de imediata, em benefício de investi mentos de produtividade a mais lon go prazo, depende naturalmente das condições econômicas ou institucio nais de cada país c do padrão de vida inicial. O primeiro plano quinquenal .soviético, por exemplo, acan*etou uma compressão quase punitiva do consu mo, em benefício das indústrias de
(7) o reverso pode entretanto suceder. E_m países de forte desnível na distri^lção de renda pode acontecer que o Go verno, por motivos Clicos. sociais ou po líticos, julgue imprescindível promover a elevaçao imediata do consumo das masNestas condições, é concebível qu a intei-venção governamental resulte em que se dedique às indústrias de consumo uma proporção maior aos mveadecisão de investir arbítrio
(C) Interpretando a experiência nica, o professor Slngcr explica o desen volvimento industrial do sóculo XIX co mo decorrente de uma forte concentra ção de renda em mãos de uma aristocra cia industrial com hábitos puritanos de consumo, por forma tal que essa concen tração foi em grande parte canalizada pa ra inversões. Vide Hans Singer. "Recur sos monetários destinados ao desenvommento econômico”, art. na Revista Bra sileira de Economia, setembro de 1950, págs. 38-39. dos "entrepreneurs” privados, preocupados com a equidade social.

sas. timentos do que se a fôsse deixada inteiramente
ao m
enos
17 Dioesto Ecíínómico
4
i. 4
quais de- hens de produção, para reservadas 77% dos inves timentos totais na indústria. (8) Já o plano polonês de reconstrução eco nômica, iniciado em 1.94G, estabeleperíodos iniciais, prioridade atividades que permitissem au-
as veríam ser cia, nos para
oomo poi- exemplo, a indústria ))esacla de aço, provoca investimentos co laterais nas indústrias químicas a ba se de alcatrão de coque, nas indús trias de cimento à base de escoria, nas indústrias mecânicas, etc. que os benefícios do processo cumu lativo sejam plenamente utilizados é preciso, entretanto, uma detei minada \elocidade de desenvolvimento e, em i)articular, que o crescimento da ren da exceda o ritmo do crescimento da
Assim, o exercício da faculdade te lescópica, implicando no sacrifício do consumo presente em benefício do consumo futuro, é condicionado pela existência ou não de uma margem satisfatória acima do nível de subsis tência.
Velocidade de desenvolvimento (d)
Nunca é demasiado frisar desenvolvimento econômico é essen cialmente um processo cumulativo, uma espécie de reação em cadeia. Um investimento numa indústria básica,
que o
1 mento imediato na produção de bens de consumo, sendo mesmo expressamente declarado que o “principal pro pósito do plano é aumentar o consu mo”. (9) população por uma margem suficien te para apressar a acumulação de pitai. (10) Dada a escassez de cursos internos, característica dos países subdesenvolvidos, de um lado, e o parco volume da migração inter nacional de capitais, de outro, o de senvolvimento econômico espontâneo tende a ser em nossos dias, demasia do lento. Ünicamente através do pla nejamento se poderia lograr uma dis ciplina de distribuição de fatores paz de evitar duplicação competitiva de facilidades, desperdício de sos, investimentos-chave
carecarecurpromover a intensificação dos II que permi-
(8) Vide Baykov, "The Developmenl of the Soviet Economic System”, Cambridge University Press, p. 167.
(9) À parte os bens de consumo, que deveríam ter tratamento prioritário, o ■ plano polonês prevê também prioridade para determinados investimentos em bens de capital, a saber, produção de maqui naria agrícola, carvão, energia elétrica e transportes, que constituem, por assim dizer, a infra-estrutura necessária para aumento de produção de bens de con sumo ou (no caso do carvão) para finan ciar importações. Os investimentos em outros bens de capital deveríam aguar dar o aumento da produção de alimen tos e demais bens de consumo, deslocan do se gradualmente a ênfase do plano da nrodução leve' para a- pesada. Vide ^Polish Economic Plan, Resolution of the isiátional Council Concerning the Natio nal Economic Plans and The Plan for Pronomic Reconstruction for the Period nf January 1, 1946” — December 31 1949 (Central Board of Plannfng, Warsaw, f 1946) pp. 17-27.
o
(10) Compare-se o trecho seguinte de um relatório da F. A. O.: . O desenvolvi¬ mento dos países insuficientomente de senvolvidos não é um simples processo discricionário que possa ser limitado ou contraído a vontade. Pelo contrário. '' desenvolvimento econômico se rege por certos princípios econômicos próprios. Um foguete ou nave interplanetária tom que alcançar uma certa “velocidade de liberação" concretamente para escapar do campo de atração da terra e passar a. ser um corpo astronômi co que se move livremente. De maneira semelhante, o desenvolvimento em qual quer país deve alcançar um certo ritmo antes que possa superar o crescimento da população. Só então 6 possível começar a melhorar o padrão de vida, diminuir o excedente de população rural e .contri buir para retardar o crescimento da po pulação” — Vide “Métodos de Financia mento do Desenvolvimento Econômico" U.N./Doc. E-1,333/Rev. l, apêndice A.
estabelecida

Dici.sio K< “ IS
Para
k-..
tam ritmo mais rápido de capitaliza ção, e, finalmente, distribuir as tare fas proporcionais entre os setores pu blico e privado.
complicada em nossos dias por dife renças ideológicas.
uma 0
Não há ainda, infelizmente, massa acumulada de experiência que permita julgai- até que ponto o pla nejamento governamental tem efetivamentc contribuído para apressar ritmo do desenvolvimento econômico. A única experiência em larga escala é a soviética. i.. . vimento econômico de maneira algo
Se medido o desenvolsimplista, em termos de decréscimo de percentagem de população ocupada empregada na agricultura, em rela ção à população total, verifica-se que Estados Unidos, a países como os Suécia e a Dinamarca lograram num período de aproximadamente 40 a 50 anos diminuir êsse número de 70 paSO*^ do total empregado; a expan das indústrias manufatureiras e ra sao serviços permitiu, assim, não apenas absorver a mão-de-obra liberada pe los melhoramentos tecnológicos na agricultara, mas ainda absorver o inNa Rússia, cremento de população, uma evolução comparável foi realiza da, dentro de uma economia planificada, num período de apenas 10 anos, por isso que a proporção de mão-dèobra empregada na agricultura dede 80% da população total, em 1.928, para 58% em 1.938. (11) cresceu
II — Do escopo do planejamento nómíco
A compreensão do planejamen to econômico cala decrescente, do socialismo mar xista para o socialismo moderado e, finalmente, para os regimes de eco nomia capitalista.
No caso específico dos países sub desenvolvidos, único que aqui nos in teressa, as experiências de planeja mento até hoje verificadas, em escala apreciável, têm ocorrido ou em paí ses de economia marxista, Polônia e as Repúblicas subdesenvol vidas da União Soviética, ou em paí ses de feição predominantemente ca pitalista, como a índia, o Chile ou o Brasil. ^ O planejamento efetuado países que, à falta de melhor nome, poderiamos denominar de tas moderados”, aplicou-se sobretudo a economias maduras como as da GrãBretanha ou Noruega, ou a econo mias em avançado estado de desen volvimento, como as da Nova Zelân dia e Austrália.
O primeiro fator determinante do escopo e âmbito do planejamento é indisputàvelmente a estrutura das instituições estatais,
ccoagudamente
(H; Dados coUgidos pelo Proíessor Seymour Harris. Economic Planning, Alíred A. Knopf, Nova York, 1949, pág. 317.

tem variado, em escomo a nos socialisa
São óbvias as razões institucionais pelas quais o planejamento socialista, abarca de ordinário uma área mais ampla que a do planejamento capita lista. No primeiro caso, o Estado de tém o contrôle dos meios de produção e é o principal, senão o único “entrepreneur”; a esfera de iniciativa pri,vada é usualmente confinada à peque na indústria e ao campesinato agrí cola. O planejamento tende assim a abranger todo o setor de investimen tos, quer na produção de bens de ca pital, quer na de bens de consumo. Entretanto, mesmo no planejamento total de tipo socialista, são teorica mente concebíveis duas variantes: solução centralista e a solução com petitiva. O primeiro tipo de planc-
19
jamento envolvería a concentração de tôdas as decisões sôbre investimentos e escala de produção nas mãos da Au toridade Central. No segundo, esta faria mais do que fixar as regras nao e condições para uma ótima utiliza dos fatores, deixando-se as deci- çao sões individuais a cargo dos gerentes de indústi-ias. (12)
conceituação capitalista, há natural mente vários matizes de planejamen to: alguns Governos confinam-se a um planejamento parcial e apenas supletivo da iniciativa privada ; ou tros interpretam o planejamento pú blico como o elemento principal e do minante do sistema, ao qual o setor privado se tem que ajustar. (13)
Os limites tia ação governamental no'planejamento c execução são as sim uma função do sistema político e econômico. Podem-se fixar, entre-
quer no
Nas economias de tipo capitalista ou semicapitalista, o planejamento governamental se refere principal mente, porém não exclusivamente, ao ^ setor público. É sem dúvida logica mente desejável (e não raro indispen sável) que o planejamento público le ve em conta as decisões privadas e se, ja precedido de uma análise geral de economia, que esclareça o papel e vul1^ to dos investimentos privados. Bàsicamente, entretanto, o setor privado retém sua autonomia de decisão, quer no tocante a investimentos, tocante ao consumo.
A primeira diferença entre os dois tipos' de planejamento é, portanto, que numa economia marxista é possí vel o planejamento global de tôda a economia, por imposição estatutária, sancionada pela repartição, direta mente controlada pelo Governo.
Numa economia capitalista, o pla nejamento somente se generaliza tôda a economia mediante coordena ção dos planos públicos e privados; o Governo pode, sem dúvida, influen ciar as decisões do setor privado, de niodo a torná-las coerentes com planos públicos. Isso, entretanto, não pode ser feito por simples impo sição estatutária. Mesmo dentro da
a os
I (12) para uma exposição sucinta das «loluções centralista e competitiva e da literatura teórica sôbre o assunto, vide A. Bergson, "Socialist Eeonomies", em “Surof Contemporary Eeonomies”, págs. vey 412-448.

(13) Em sua forma mais rudimentar, o planejamento dos países subdesenvolvi dos nao socialistas nSo abrange mais do que as despesas públicas, através de çamentos de investimentos cobrindo ordeterminado número do anos. No Brasil os chamados “Plano de Obras Públicas é Aparelhamenlo da Defesa Nacional” c o “Plano de Obras e Equipamentos" decre tados para os períodos de 1939-10-13 e 1914-1948 (abandonado ôste último em 194G) se filiam a ôsse tipo de planeja mento. Uma segunda etapa de planeja mento compre'endo também planos de produção por indústrias específicas ou para grupos de indústrias, escalonadas conforme a prioridade. Ésses planos con tem geralmcnte estimativas dos riais, equipamentos, mão-de-obra e cursos financeiros necessários para a con secução das metas de produção, tanto setor publico como no setor privadopeciíicam. outrossim. geralmcnte as'me didas governamentais, destacando os re cursos requeridos pelo plano ou necessá rios para induzir o setor privado a íomece-los. O Plano Quinquenal Argentino denominado “Plan de Gobierno” ass"m como o plano de Bombaim, na índia, se filiam a essa categoria. O terceiro estágio de planejamento, mais dificilmente atingível nos países subdesenvolvidos por exigir uma perfeita visão do conjunto economico e avançada base estatística, consiste no levantamento do orçamento geral dos recursos da nação, subdivididos orçarnentos específicos para a indúsagricultura, despesas governamentüis, conicrcio exterior, etc, o übrongcri“ do tanto o setor público como o privado. Como exemplos dêsse tipo de planeja mento cabe citar o “First Memorandum on The Central Economlc Plan for 1946 and National Budget”, da Holanda, e "The Norwegian National Budget for 1947” da Noruega.
matereno esem tria.
DrcESTO Econômico 20
I I
!
d) orientação e direção do setor privado, que pode ser alcançada através de regulamentos e in centivos em vários campos, im portando, nesse contexto, fazer com que os vários tipos de me didas adotadas convirjam para o mesmo objetivo, sem se cance lar ou nulificarem umas outras.” as
, realizado em Porto Rico,
tanto, determinados níveis mínimos de intervenção governamental, aceitá veis mesmo cm economias de tipo predoniinantemente capitalista, sem os quais o planejamento do desenvol vimento econômico não pode ser con duzido eficazmente. Essa conceituação de tarefas governamentais indis pensáveis para a promoção do desen volvimento econômico foi assim fir mada no relatório do “Seminário so bre Planejamento do desenvolvimento econômico em maio de 1.951, sob os auspícios da ONU:
o su
planejamento dos países bdesenvolvidos é necessário e de veria conduzir, em última análise, a programas globais de desenvolvi mento. Estimam assim ós membros do Seminário que a ação governa mental deve se estender em várias direções inclusive:
a) a provisão de instituições, facili dade de pesquisa, assistência técnica e serviços sociais condidesenvolvimento zentes com o econômico público e privado ;
A segunda diferença básica entre o planejamento de tipo socialista e o de tipo capitalista se traduz na discipli na de execução do plano. Nos países de planejamento socialista, o Gover no exerce comando direto sôbre todos os recursos econômicos do país, exce to talvez no que tange à pequena pro dução agrícola e ao artesanato. Po de, assim, executar ou proibir inves timentos, assim como reservar maté rias-primas, orientar mão-de-obra, racionar disponibilidades cambiais e canalizar o crédito para os setores prioritários do plano. No planeja mento efetuado em regimes capitalis tas, o Governo tem que repousar, so bretudo, sôbre controles indiretos, monetários e fiscais, não lhe sendo facultado, senão dentro de severos li mites, requisitar ou transferir recur sos dos setores privados para os go vernamentais.

re-
b) a elaboração de programas par ciais de desenvolvimento, ou, se possível, de programas gerais para toda a economia, pormenorizando-se especialmente os ferentes ao setor público ;
(●) a produção direta de bens e ser viços, nos casos em que a forma ção de empresas governamentais é considerada preferível, conve niente ou inevitável, com ou sem a participação de empresas privadas ;
Êsses contrastes institucionais têm naturalmente grande relevância, não só para a técnica econômica do pla nejamento como para a ciência da ad ministração pública. É óbvio que quanto maior o grau de controle eco nômico estatal maiores as responsa bilidades de administração. O plane jamento socialista, que de certa^ for ma substitui o homem de emprêsa e 0 consumidor pelo burocrata, lança
21 DrtaisTO EcoNÓ.\jir(^
assim sôbre a administração pública uma respònsabilidade apavorante, enfeixando nos órgãos governamentais uma miríade de decisões econômicas anteriormente tomadas por unidades individuais, e aumentando, portanto, as possibilidades de êrro. (14)
redimido das limitações teóricas, pe reça por limitações burocráticas.
Para os países subdesenvolvidos, o obstáculo administrativo é sério, mes mo em formas de planejamento me nos ambiciosas que o planejamento .socialista integral, vários e trágicos círculos viciosos do subdesenvolvimento é que
De fato, um dos precisa Quando iniciadas as discussões sô bre a teoria do planejamento, famosa controvérsia entre Von Mises, Hayek, Barone, Dickerson, Lange e outros, o principal argumento dos economistas liberais, contra a plane jamento socialista, se filiava a suposta impossibilidade de racional do

com a uma solução
problema da distribuição otima dos fatores, uma vez abolida Uvre formação de preços. Hoje se reconhece essa objeção
, , como suscetível de solução teóriea ; há, entretanto, muito menos certeza do .. , , que seja sus¬ cetível de uma solução prática eficaz. Não é impossível com êle as que o socialismo, (e economias planificadas)
mente nos países mais necessitados de eficiente iniciativa pública par a) compensar a debilidade da inicia tiva privada e b) utilizar econòniic mente os minguados recur.sos de dispõem — mais escasseia mento de administradores tes, e menores sâo as facilidades seu treinamento e formação. Foi conhecendo isto I Nações Unida.s e cializadas
a .— ■aquo o supriexporionpara reque, em boa hora, - as Agências Espese lançaram decididament
a e no esforço de cooperar para o de.senvolvimento da ciência administrativa, através da concessão do assistência técnica aos países subdesenvolvidos.
as
(14) Ao argumento cie que a concentra ção das decisões, multiplicando a respec tiva area de impacto, em contraste com as decisões individuais do sistema capita lista (no qual os erros individuais dos preendedores o consumidores tendem a se cancelar) aumenta a possibilidade de êr ro. respondem os socialistas ' que se as consequências de um êrro seriam maio res. as possibilidaclcs de acérto são também maiores, por isso que as decisões da autoridade planejadora
de , j . , seriam tomadas em ífCf/íe uma informação global sobre o estado BCral da economia e de seus setores específicos, informação essa ina cessível ao ■ entrepreneur" privado Ques tão correlata e sumamente interessante é a de sabor se a planiCicação socialista é 9»««A í
em-
"" P>°bíemt
R°vTsl.rBrasnoTra
yV> r 22 Dif.rsrn
capaz do eliminar "dVressão:'''*;^ vfde / V
Iconom'’
Sc Fconomm. março de 1950 Para um rns?.
0
PETRÓLEO BRASILEIR
Odilon Bhaca ^
(Antigo deputado federal — Ex-Ministro da Agricultura — Advogado do Banco do Bi^asil)
Monopólio e.Klaíal e livre empresa
1 — Entre o sistema do monopólio estatal exercido por ação direta, autáifiuica ou não, e o da livre emprêregime de acessão ou de con de domínio pleno ou resolúvel. sa, cm eessao a experiência tom admitido outros sis temas que os conjugam e combinam.
No MÉXICO, por exemplo, preva- , lece o sistema de monopólio estatal direta autárquica, hoje com¬ por açao binada com o da livre emprêsa em regime que se podo considerar de parceria.
Na ARGENTINA, ao contrário do muitos pensam, não há monopó- que lio estatal propriamente dito.
YACIMIENTOS
Os PETROLÍFEROS ao
FISCALES, órgão autárquico, atuam lado de empresas livres preexis tentes, se bem que de movimentos contidos.
No BRASL tem vigorado o sistema da ação oficial direta por órgão não autárquico (o C. N. P.) combinado com o da livre emprêsa de rígido ca ráter nacional, em regime de autori zação e concessões do índole pouco definida.

2 — O ESTATUTO DO PETRÓ
LEO institui o monopólio estatal de ação indireta, exercida por meio de um novo tipo de concessão, que não é nem de domínio pleno nem resor hivol, mas de uso e gôzo do privilé gio oficial, convenientemente discipli nado; e por meio de empresas de eco-
nomia mista. Dessarte, nos riscos da pesquisa do petróleo associa ao Es tado, senhor do monopólio, a emprê-j sa livre organizada no país, com aH gumas restrições de sentido naciona-3 lista. Mas no sistema do ESTATU-j TO, a associação, no caso de tratar-j se de empresas organizadas por es trangeiros, efetua-se correndo os in teressados todos os percalços da caça ao “wildcat”, o que ao país acarretajj em vez da saída, entrada de dólares, 3 — A solução Vargas mantém em pleno vigor a legislação referente autorizações e concessões e cria uma grande empresa de economia mista, para exercer e intensificar a ação oficial relativa ao petróleo. Não ins titui monopólio do Estado, nem de ação direta nem indireta. Atenua o sentido nacionalista da legislação vigente, facilitando a participação da livre emprêsa organizada no país,^ nacional ou estrangeira, na formação do capital e no financiamento da PE TRÓLEO BRASILEIRO S. A., ali viando-a dos encargos diretos da pes quisa. ● ,
a Não obstante cada vez mais con-3 vencido, em pleno acordo com o GE-lB NERAL JUAREZ TÁVORÁ e comj o Eng.o GLYCON DE PAIVA, de* que a solução completa, a solução^H preferível para o Brasil, dada a inien-^H sidão de suas províncias sedimenta-^H res, seja a do ESTATUTO DO PE« TRÓLEO, considero aceitável o pro-^B jeto do Govêrno, desde que modifica-gB do em alguns pontos essenciais. ''.Sffl
f ● ^
^ \ 1*
p» ■".i
:
Reflexões suscitadas pela mensagem
4 A Mensagem presidencial so¬ bre a criação da PETRÓLEO BRA SILEIRO S. A. justifica-a de manei ra satisfatória.
rais de óleo por ora somente produ- * zem 2,5^0 do consumo interno e que as refinariaa nacionais, em constru ção, apenas têm capacidade para in dustrializar 50'/v do todo o óleo bruto de que careceremos em 1955.

Sem al)undonar o plano Du tra, que consistia cm reduzir o gas to de divisas pela nacionalização efe tiva do transporte e do refino do pe tróleo importado c em intensificar busca do petróleo nacional, com o eni-
5 a prêgo dos lucros daquelas operações, a chamada solução Vargas distin gue-se polo empenho de imprimiimáxima aceleração possível ao esfôrço de descoberta de novos
a (íumpos produtivos, além dos já provados na BAHIA.
aos 0 imaque sob São co I
ma¬ ras
Na “caracterização do problema” faz-se demonstração cabal das se veras razões que devem convocar a Nação para o gigantesco esforço de descobrir e industrializar o petróleo existente no território da República. Depois de apontar dados estatísti cos inquietantes sôbre os progressi vos aumentos de nossas importações de derivados de petróleo, que se eleJ' vam a* cerca de 200 milhões de dóla res por ano, com índice de crescimento de 19.5%, e de evidenciar que o seu mon tante corresponde a 13% do total de nossas compras no exterior, a Mensagem prevê que, dentro de um decênio, se nossas impor tações crescerem com a aceleração já verificada, além dos embaraços ligados à defesa nacional, seremos talvez coagidos, por escas sez de disponibilidades de câmbio, a racionar o consu mo de derivados de petró leo, com a suspensão ou o declínio do desenvolvimento de nossos transportes terrestres, rítimos e aéreos e de nossas inúmeindústrias dêles dependentes.
Realmente, para fazer face às cres centes exigências do nosso mercado de combustíveis fluidos e lubrificanaliás são mínimos em con- tes, que Kfronto com os recursos energéticos de outros países, reconhece o Go-
t. vêrno que as nossas reservas natu-
Para êsse fim, junta lucros do transporte e do refino, do petróleo importa do, o produto dos adicio nais sôbre certos impostos, especialmente sôbre pôsto único de combustíveis, bem como outras contribui ções da economia privada.
nhecidos os limites de efi ciência da ação estatal direta po do comércio e da indústria, par disso, não havia
no camA como conseguir
, a não ser por via de associação luntária, a contribuição dos ESTA DOS e MUNICÍPIOS, representada pelas quotas com que participam do impôsto único sôbre combustíveis. Registre-se de passagem que o pará grafo único do art. 7.o do projeto,
vo-
■●1 DiCESTO Econó.njico 2*1
r
ST 4 t I
6 — A aceleração dos tr:. balhos de pesquisa não se ria exequível, no grau dese jado, mediante ação direta do Estado, ainda forma autárquica.
que a obriga, é de transparente inconstitucionalidade. A empresa de economia mista facilitaria a compo sição dos interesses e asseguraria maior flexibilidade à ação projeta da. Bem andou o Governo preferin do-a à criação de um pesado órgão autárquico.
rísticas de uma a operar, por meio de empresas sub sidiárias, a integração específica do sistema econômico do petróleo, pro cede o Governo de acordo com as mais positivas indicações da expe-
que se pode afirmar é que prêsa de economia mista permi tiu à INGLATERRA, à FRAN ÇA e à HOLANDA atingirem todos os objetivos dos grandes trustes americanos, sem os seus sem 0 recurso a leis sem
a emexcessos e a acórdãos repressivos,
7 — Fundando-a com as caracte- a bárbara seleção capitalista que iniciativas e a sacrificou inúmeras dignas de proteção oficial holding”, destinada economia de milhões de homens,
mas antes mediante o estímulo. o controle e a participação lu crativa do Estado”. (N. 53). riência.
Além de assim promover na PE TRÓLEO BRASILEIRO S. A. a con centração que os especialistas deno minam cia, à luz dos melhores ensinamentos, também a sua concentração “hori zontal”, propondo-se a articulá-la com empresas de outros setores afins, da economia nacional, notadameiitc de produção de aço, tubos,.cimento etc.
vertical”, o Governo anun-
No segundo tópico, ao reconhecer que a indústria do petróleo é por ín dole monopolística, acentuei em de fesa do ESTATUTO:
“ Manifesto fica, dessarte, que não há, no anteprojeto, quebra da “integração” peculiar à nomia do petróleo. No que ela possa interessar às empresas de exportação, foi mantida intacta. E no atinente às destinadas ao ● abastecimento do mercado inter-
ecoSinto-me à vontade para louvar a Mensagem nos tópicos referidos, por sua concordância com as opiniões que, como Relator da Comissão do ESTATUTO DO PETRÓLEO, emiti ao apresentar o anteprojeto.
8 — Apraz-me invocar a atenção das COMISSOES REUNIDAS para os números 43, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 do aludido documento e particu larmente para os trechos que a se guir transcrevo.

No primeiro, depois de um rápido estudo sôbre as empresas de econo mia mista, opino:
do como supremo “Na esfera da indústria e do comércio do petróleo o mínimo ceiro de compensação — de todos
no, fica nas nossas mãos, e na medida de nossas forças, efeti vá-la de modo pleno, especial mente se o C. N. P., por meio de sociedades de economia mista. repartir e compensar, com inte ligência, os riscos das que se na laempregarem na pesquisa e vra de nossas jazidas com os lu cros das que operarem o trans porte e a refinação dos seus pro dutos. O Fundo Nacional do Pe tróleo, pèça essencialíssima sistema do anteprojeto, atuara aparelho finan¬
25 Dicksto Econômico
os efeitos positivos e negativos do indireto monopólio exercido pela União”. (N. 67).

orçamento marginal, estranho ao controle do Congresso.
oo.s /
9 _ No ESTATUTO, o CONSE LHO NACIONAL DO PETRÓLEO, * órgão de Estado, permanece como cúpola do sistema, com o direito de livre movimentação do FUNDO NA CIONAL DO PETRÓLEO, destinado a arrecadar, inclusive por via de em préstimos, todos os elementos de ceita destinados à ação oficial I U 'ceimente ao petróleo, contrário do que geralmente i; gina e do que não quis ver a paixão nacionalista, o ESTATUTO estabe lece o monopólio estatal, embora, vi✓ sando atribuir-lhe um máximo de fle xibilidade dinâmica, não o tenha re duzido à ação oficial direta.
P
O FUNDO NACIONAL DO V\.]. TRÔI..EO, previsto no ESTATUTO, uma vez incluído no projeto e dotado de personalidade jurídica o adminis tração própria, poderia vantajosa mente incumbír-se do tudo Que dis sesse respeito ao financiamento da PETROBRAS ê de suas subsidiárias.
Estou hoje convencido de que o sis tema do ESTATUTO melhoraria de modo considerável se se desse FUNDO NACIONAL DO PETRÓ LEO, por êle criado, a personalidade ■ jurídica e a autonomia dos órgãos autárquicos de investimento finan' ceiro.
— For último, na Exposição a que me reporto, dade de prir
encarecí a necessinos aparelharmos para su as exigências de material d
cones-
ao a ação do Estado e das empresas cessionárias, mesmo ostrangeiras que tivessem de operar no país crevendo: ’
10 — A meu ver, uma das falhas s con- mais graves da solução Varga siste no primitivismo do sistema de financiamento da PETROBRAS, gundo 0 qual as arrecadações dos adi cionais de índole tributária são logo convertidas em ações para imediata nas atividades da Empresa.
seinversão
: E porque poderão ser de montante muito superior às necessidades decor rentes da marcha das operações e dos de embarque do material que prazos
“ Se a nossa indústri bancos, priamente dito não retiverem, país, boa parto de tais inversões de capital e, pelo menos, parcela dos lucros dos pelas nossas jazidas nosso mercado interno de nados e subprodutos,
-la, os nossü.'^ o nosso comércio proiio uma proporcionae pelo - rofi. nossa eco
nomia estai-á sendo submetida severa drenagem e estarea uma mos perdendo substância.
Não basta exigir que, atingin do certo limite, a exportação de petróleo se faça em refinados. Muito mais importante é, para a h.tk
\ Dir.KSTO Económicíí 26 1
Outra importante restrição que se liá de introduzir nessa parto do pr jeto é a concernente à propriedade das jazidas. As jazidas de i>etrólco não podem ser an-olaíias entre bens que constituirão quotas do capi tal da PETROBRAS. São l)ons já poi- lei incorporados ao patrimônio inalienável da UNIÃO.
t t rc' conPorque, ao se ima- ●t
tiver de ser importado, introduziu-se projeto 0 intolerável dispositivo arfr. 11» verdadeiro no
nossa economia, que os nossos industriais e comerciantes tratem de se preparar para vender, a preço menor do que o de importação, tudo quanto possam fornecer às empresas concessio nárias que sejam de controle estrangeiro. Fazer o contrário, isto ó, instituir o monopólio efe tivo do Estado para ser exer cido por intermédio de geólogos e do empresas técnicas esti*angeiras, pagos em dólares, e mui to l)em pagos, o empregando (luase que exclusivamonte mate rial importado, equivale a ex portar dólares o a fazê-lo sem compensação de valor econômi co real”’. (N. 43).
Em sua execução têm sido contra-
tados numerosos í?eólo{?os estrangei ros, sobretudo norte-americanos e os serviços da. UNITED GEOPHYSICAL CO. S. A., de Caracas, Vene- “ zuela; da GEOPHYSICAL SERVICE ■' INC., de Dallas, Texas; de SCHLUM- ●! BERGER SURENCO de Caracas, Ve- Í nezuela; da EXPLORATION SUR^'EY INC. de Dallas, Texas; de GEOPHOTO CORP. de Denver, Colorado e da DRILLING AND EXPLORATION INC., da Califórnia. Dei.xo de divulgar as cifras relativas ao ●
custo em dólares dos citados contra tos porque o CONSELHO não costumr. publicá-los.
04 > 1
i
observação se repete de ano a ano. Confirma-a o avultado número de esO Estatuto do Petróleo e o custo dos serviços em dólares pecialistas estrangeiros contratados e 0 seguido apelo às Empresas Técnicas que efetuam nossas prospecções geofísicas e nossas perfurações pioneiras.
12 — O C. N. P. inverteu já em pesquisas na foz do Amazonas, na bacia sedimentar Maranhão-Piaui, do Nordeste, em Alagoas, Sergipe, na bacia do Paraná e especialmente na Bahia, doze anos de trabalhos e quantia superior a 1 bilhão de cruzeiro.s. Cerca de dois terços dessa quantia tiveram de ser convertidos em dólares para pagamento de geó logos, geofísicos e empresas técnicas de prospecção e perfuração, bem co mo de compras de sondas tos e acessórios.
equipamenprática foi em
0 programa pôsto elaborado pelo escritório técnico de. grande nomeada.de DP] GOLYER & MAC NAUGHTON, depois contrata do para orientar e supervisionar a ação do CONSELHO.

0 certo é que aqueles e estas rece- * bem em dólares e em dólares paga mos 0 material que empregam.
J 1 j iV o
l)u;i:sTo I''{:oNÚMiC{> 2T ■ ●<« I T
^
.4 i 1
I
Quem tem afirmado, em documen tos oficiais, que não dispomos do técnicos nas propox’ções impostas pe las circunstâncias, é o Presidente do C. N. P. Nos seus relatórios tal ■-Ú
Ora, êsse tem sido o nosso proce dimento até aqui.
13 — Detenho-me a recordar opi- :ji niões emitidas em defesa do antepro jeto do ESTATUTO DO PETRÓLEO com um duplo intuito; a) com o de justificar perante as '-l COMISSÕES REUNIDAS meu apoio ^ à Mensagem do Govêrno, nos tópiCOS indicados; e b) com o de significar-lhes que ESTATUTO, permitindo, sob certas condições, a participação de empre sas de capital estrangeiro na busca 4 de nossos “traps” oleíferos, preten-
I
dia, pelo menos em parte, asseíjnrá-la mediante custeio em dólares importados.
COMISSÀO DO a
E a fim de que essa parte fôsse a maior possível, ESTATUTO recomendava, como quer o Governo, que nosso comércio e nosindústria assumissem, quanto an tes, o encargo de.fornecer às inte ressadas boa quota do material de que carecessem.
E isso poderia e pode ser conse guido.
de dólares por ano os aumentos adi cionais de divisas que teremos de enfrentar, juntamente com mentos anuais de consumo, cjue são de cerca do 40 milhões, não ostaiemos exaífcrando.
os au-
Adotando para cálculo 0 as cifras indicadas pelo Eng.° Ave lino Inácio de Oliveira, apurei que, só para as operações do geologia, geofísica e perfuração, o gasto anual cm dólares, no quinquênio, USS 31.125.000.000.
o programa será de Ora, o progra-
'
do Govêrno exige muito ma mais e ainda a duplicação da capacidade de nosso parque de refinarias e de sa frota de petroleiros, convindo nosnau
h
14 — Se o objetivo primordial do projeto é a descoberta de grandes estrutui*as produtivas de óleo, para deter, poupar ou mesmo suprimir <> dispêndio de divisas, em importaçõe.s de derivados estrangeiros, cuja ele vação nos ameaça de racionamento em futuro próximo, convém não es quecer, como faz a Mensagem, o cál culo dos aumentos daquele dispêndio que do projeto advirão para a impor tação de sondas, equipamentos e aces sórios, indispensáveis à intensificação da pesquisa, bem como para a mon tagem de novas refinarias e oleodu tos e compra de novos petroleiros.

esquecer as Oespesas de armazém mento e de preparação dos campos para a fase produtiva.
inovo.s transferindo dóiares í:
do outras rubricas leo, tivermos no "I que
O Govêrno Dutra, dentro do esque¬ ma de FINANCIAMENTO DO PLANO SALTE, pagou boa parte de sua compra de refinarias e petroleiros com alguns milhões de moeda blo queada, que possuíamos no estran geiro. De agora em diante teremos ‘ de pagar em dólares ou valores equi valentes.
nos foram concedidas licenças de fa bricação e prioridades de embarque para as grandes quantidades de mate rial que seremos obrigadoj tar. Segundo se ve dos Relatórios do Presidente do C. N. P., tratar-se de encomendas de tidade oficial, encomendas de tidades bem modestas.
apesar de - uma enquannem
:v ,, sempre ● ■ o Conselho as recebeu normalmente.
Devemos prever que a nacionali zação do petróleo no Irã venha nar premente a busca de novos 1)03 produtivos em outras regiões do globo; e, reconhecer, além disso, ‘í
Além dessa despesa em dólares re lativa a importações de material, há conforme vimos — a dos pagamen tos dos geólogos e geofísicos e dos serviços técnicos das empresas que PETROBRAS tiver de contratar, em cerca de 50 milhões a Se orçarmos
OH chamados trustes do petróleo não seriam dignos da fama de que go zam se não influíssem muito mais do que se pode supor nas atividades das empresas técnicas e industriais.
1 t f’ Dichsto Ec;onómk‘o 28 ■
I
y i
.
i'
í*
15 — E muito felizes nos devemos considerar se
pura a do petvóque os despender Exterior. Porque isso significará
a torcamque
1:
ligadas à economia do produto, e para as quais a PETROBRAS terá do apelar.
Cumpre admitir, por igual — o que Deus não permita — que, após os cinco anos de ingentes esfoi*ços e de tremendo consumo extraordinário de divisas, não tenhamos descoberto no vas e potentes zonas produtivos do óleo. Nesse caso, terão sido infrutí feros os gastos com a pesquisa, equi valentes aos 5 bilhões de cruzeiros previstos pela Mensagem, dos quais cérca de dois terços depois de trans formados em milhões de dólares.

estrangeiras, de crédito favor de empresas ou permitir que títulos de emissão da PETROBRAS, poi porventura tomados, transformar-se em ações que, pc o projeto, poderão ser de transfira aos ESTADOS e PIOS boa parte das que forem obje to da subscrição inicial, esta bem. Porque será esse o meio incorpo rar ao patrimônio da PETROBRAb fim criados
em a os excedentes com êsse
de com-
por via do imposto único bustiveis.
Do programa executado, não restarão senão os lucros da refina ção 0 do transporte do óleo bruto, que então estaremos importando na cal culada proporção de 200 mil barris diários e pelos preços que os trastes nos imponham.
nos errado na-
Eis porque não me parece nem lesivo ao legítimo interesse cional, friamente compreendido, asso ciar, sob certas condições, empresas de capital estrangeiro aos riscos que o Estado tem de assumir no esforço de descobrir ricas estruturas petrólifci*as nas profundezas e na imensi dão de iioasaa províncias sedimenta res.
Acresce que tal concessão e, na espécie, inoperante.
Apesar das facilidades e vantagens oferecidas, não creio que as compa nhias estrangeiras se ticipar da empresa absterem, motivos de enorme
Em primeiro lugar, é de duvidem da viabilida-
17 animem a parHá, nacional. para se relevância supor-se que de da criação de “holdings» por mero ato legislativo, holdings» existentes no mun do sui*giram sdb a pressão de fato res econômicos irresistíveis, enfren tados ^oor homens de excepcional caiJucidade o do vontade férrea que realizando
As fonim concebendo e por meio de repetidas tentativas, tendo sempre à mão o registro ime diato dos efeitos negativos e posiAos seus órgãos
as tivos a considerar,
Injustificada a participação do capital estrangeiro de direção somente são erguidos os associados e auxiliares que se fazem recomendar por merecimentos po^^' tos à prova na direção dos negócios agrupad. s. as suas subBrasil ad-
16 Injustificado e incompreensí
das empresas menores É, pois, improvável que sidiúriaa organizadas no
holding se possa Seria supor UNIÃO dispor do suas ações, máxime se
29 DlGlCSTO EcüNÓ*\UCO
vel afigura-se-me é o que faz o pro jeto, a saber, facilitar a participa ção das empresas dc corpo social estrangeiro na formação do capital da PETROBRAS, mediante inversões em moeda nacional, proveniente de suas atividades no país. Não se alcança porque deva a mitam que uma formar por força de lei. possível que, por força de lei, i
mais competição as suao le-
seus au-
. opere o “fíat” instantâneo de um J delicado complexo de fenômenos que' *● somente surge em função do tempo ü e da experiência, nas esferas f altas e turbulentas da ^ econômica. Provavelmente, midades que decidem dos destinos das “holdings” do petróleo, rem o projeto, hão de julgar pouco fundadas as esperanças de tores.
indiretas, seíviços técnicos, eíjuipamentos e outros materiais patentea dos nas condições de pa^;amento em dólar que poderão ditar, bem como o de obter de nós, durante o quimiue-
li; Mas, ainda que admitam ^ “holding” possa resultar de ^ pies ato legislativo, é de ^ que, por falta de confiança, as em■ prêsas estrangeiras se abstenham de -compartilhar da que nasça sob os auspícios e sob o controle do Esta/ do, máxime
que uma um simpresumir em paí.s no qual domine
a paixao nacionalista. Se, sob forp- ma de empresas brasileiras, sujeitas ^ a lei comum, lícito lhes é autuar com , segui ança no país, por que haveri’ de participar de lam empi'êsa de economia mista, na qual o goVêrno, cuja composição é politicamente riável, poderia a todo o tempo, ou sem razão, dizer a última pala vra ? Para obterem uma renda
uma vacom pro
nio, por sucessivos aumentos dc pre ço de seus produtos, as importâncias ciue se apressarão a inverter na VE NEZUELA, na COLOMBIA e bretudo no PERU, so¬ que lhes abre agoi*a as suas portas, sarte, descobrir no Exterior os cam pos petróliferos dq. que carecem e que lhes recusam no BRASIL.
Não nos iludamos:
Poderão, desa PETRO-
BRAS provavelmente com 0 capital estrangeiro, mo com o formado
contará nem mesTcrá casa e aís.
nao no p que funcionar com a prata da de origem tributária. Por isso me lhor será, no tocante à sua organizaçao, seguir, salvo emendas, o m-o jeto EUSÉBIO ROCHA.
Mas, sendo proceder com assim, cumpre-nos
'
o maior atilamento com a maior cautela, tomando as providências
e tôdas suscetíveis de as holding’ i se¬ gurar pleno êxito à petróleo nacional. do vável de 8% do capita] empregado? / Não, porque essa renda, quando to, poderá interessar de investimento
.« muia sociedades e ISSC mesmo me
Mensa"^em"erm.f ° diante garantia de câmbio- e do di- f. ^ j Governo reito de transferência de moeda alertado das dificuldades
Perigos e omissõe.s do^ projeto 18 -
se d'’ re, as em- , conhece que nos íalL ^ presas estrangeiras se mostrem de sinteressadas de infiltrar-se na PETROBRAS ou de tentar a conquista do seu domínio indireto. Muito
expe de direção e gerência de or s de tal vulto e comple meper
í> , Ihor negócio para elas será o de foir iiecer à “holding” nacional, por vias portância capital da escolha dos ho- %
riência ganiza- _^ çõe xidade, " Digno de nota é, por igual, que êle se confesse ciente dos “ gigantismo burocrático igos do e da im ._1
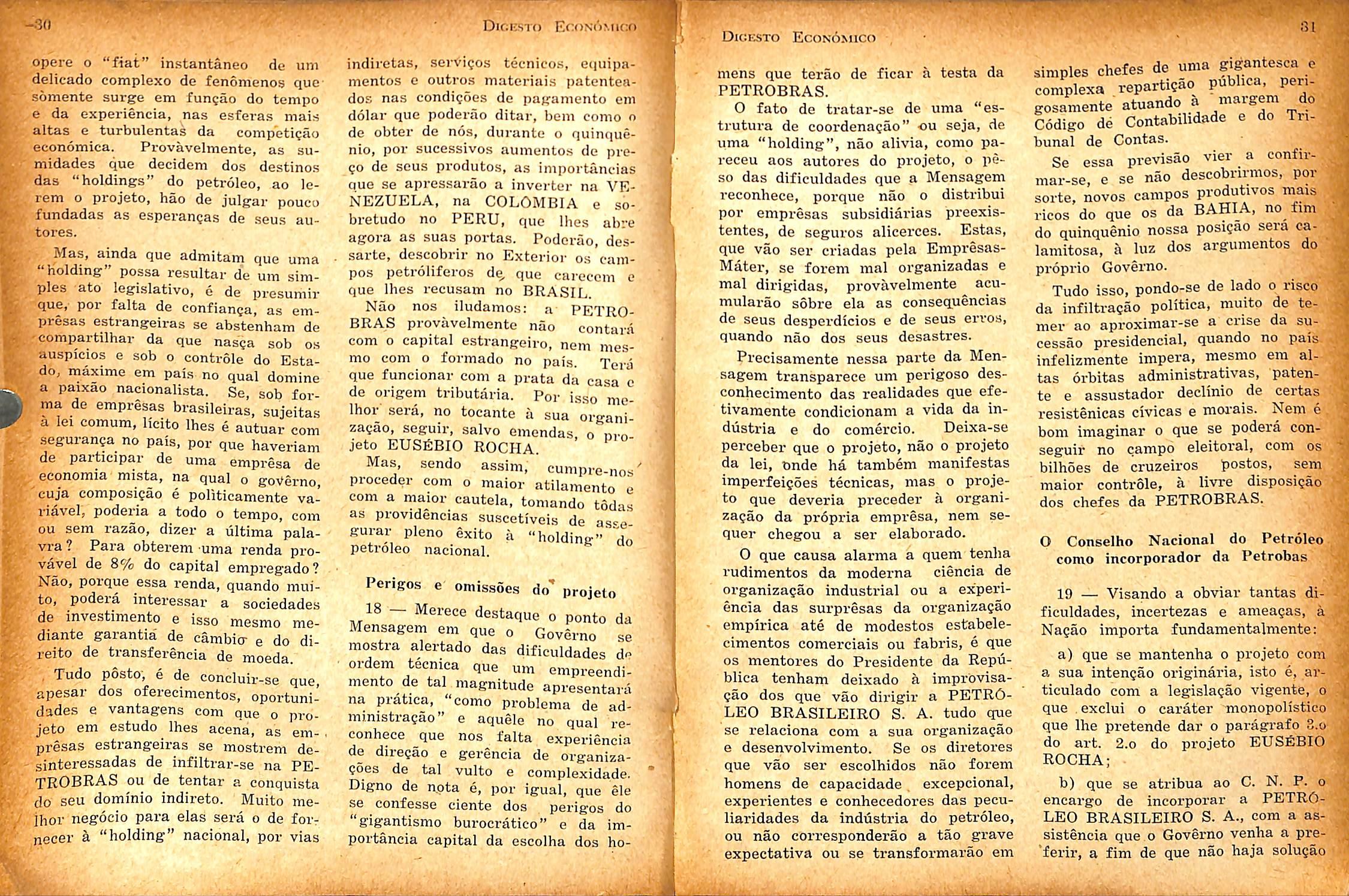
t í» ●<.. ●3(1 Dkjsio Econ<')Mu:o í
h
Tudo pôsto- é de concluir-se que, InTo de TaT magnitude apZ"T"" apesar dos oferecmmrtos, oportuni- na prática, “como prfblema de “d* dados e vantagens com que o pro- ministraçã;” e aquè e nT qual jeto em estudo lhes acena
mens que terão de ficar ã testa da PETROBRAS.
O fato de tratai*-se de uma “es trutura de coordenação” ou seja, de uma "holding”, não alivia, como pa receu aos autores do projeto, o pèso das dificuldades que a Mensagem reconhece, porque não o distribui por empresas subsidiárias preexis tentes, de seguros alicerces. Estas, que vão ser criadas pela EmprêsasMáter, se forem mal organizadas e mal dirigidas, provavelmente mularão sobre ela as consequências de seus desperdícios e de seus erros, quando não dos seus desastres.
acuDeixa-se
Precisamente nessa parte da Men sagem transparece um perigoso des conhecimento das realidades que efetivaraente condicionam a vida da in dústria e do comércio, perceber que o projeto, não o projeto da lei, Onde há também manifestas imperfeições técnicas, mas o proje to que deveria preceder à organi zação da própria empresa, nem se quer chegou a ser elaborado.
O que causa alarma a quem tenha rudimentos da moderna ciência de organização industrial ou a experi ência das surprêsas da organização empírica até de modestos estabele cimentos comerciais ou fabris, é que os mentores do Presidente da Repú blica tenham deixado à improvisa ção dos que vão dirigir a PETRÓ LEO BRASILEIRO S. A. tudo que se relaciona com a sua organização e desenvolvimento. Se os diretores que vão ser escolhidos não forem homens de capacidade excepcional, experientes e conhecedores das pecu liaridades da indústria do petróleo, ou não corresponderão a tão grave expectativa ou se transfoi'marão em
de unia gigantesca o simples chefes complexa repartição publica, pengosamente atuando a maigem o Código dê Contabilidade e do Tri bunal de Contas.
vier a confii-Se essa previsão mar-se, e se não descobrirmos, por campos produtivos mais da BAHIA, no fim sorte, novos ricos do que os do quinquênio nossa posição sera ca lamitosa, ã luz dos argumentos do próprio Govêrno.
Tudo isso, pondo-se de lado o risco da infiltração política, muito de te mer ao aproximar-se a crise da supresidencial, quando no pais infelizmente impera, mesmo em al tas órbitas administrativas, patenassustador declinio de certas Nem ó
cessao te e resistênicas cívicas e moi*ais.
bom imaginar o que se poderá coneleitoral, com os seguir no campo bilhões de cruzeiros controle, à livre disposição postos, sem maior dos chefes da PETROBRAS.
O Conselho Nacional do Petróleo incorporador da Petrobas como
19 — Visando a obviar tantas di ficuldades, incertezas e ameaças, à Nação importa fundamentalmente:
a) que se mantenha o projeto com a sua intenção originária, isto é, ar ticulado com a legislação vigente, o que exclui o caráter monopolístico que lhe pretende dar o parágrafo 3.o do art. 2.0 do projeto EUSÉBIO ROCHA;
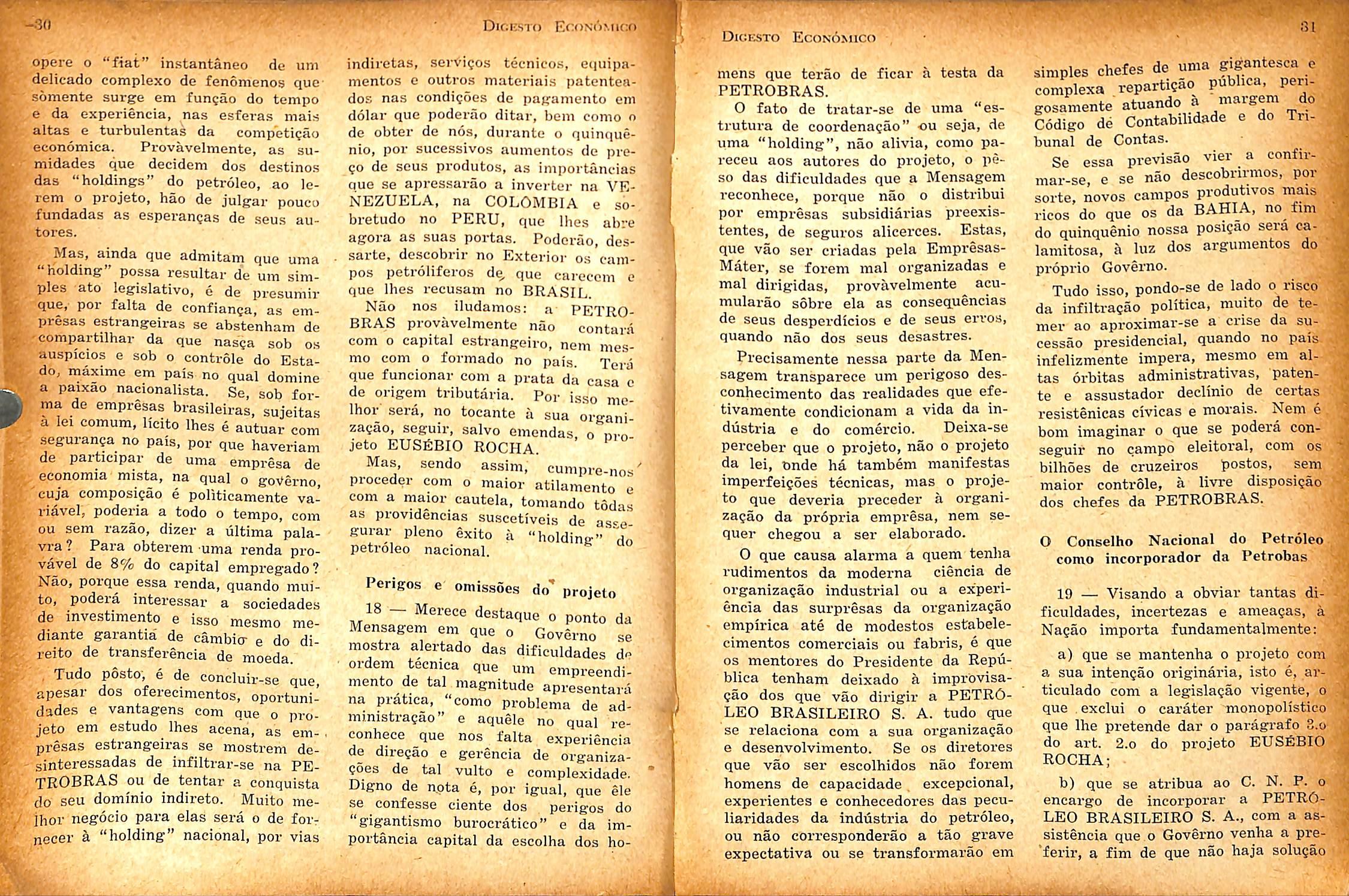
b) que se atribua ao C. N. P. o encargo de incorporar a LEO BRASILEIRO S. A., com a as sistência que o Govêrno venha a pre'ferir, a fim de que não haja solução
PETRO-
1 Dkuísto Econômico
■
do continuidade nos trabalhos curso ou quaisquer providências os possa desoi*í?anizar.
Não se compreende que o C. N. P. não tenha sido consultado, em cará ter oficial, sobre o programa alude a Mensagem e sôbi*e
cm que a que a cria-
ção da PETRÓLEO BRASILEIRO
S. A., uma vez que, cretos-leis n.° 395, de 29 de abril de 1938, e 538, de 7 de julho do ano, que o criaram, é êle supremo de consulta do Govêr tudo quanto se relacione tróleo.
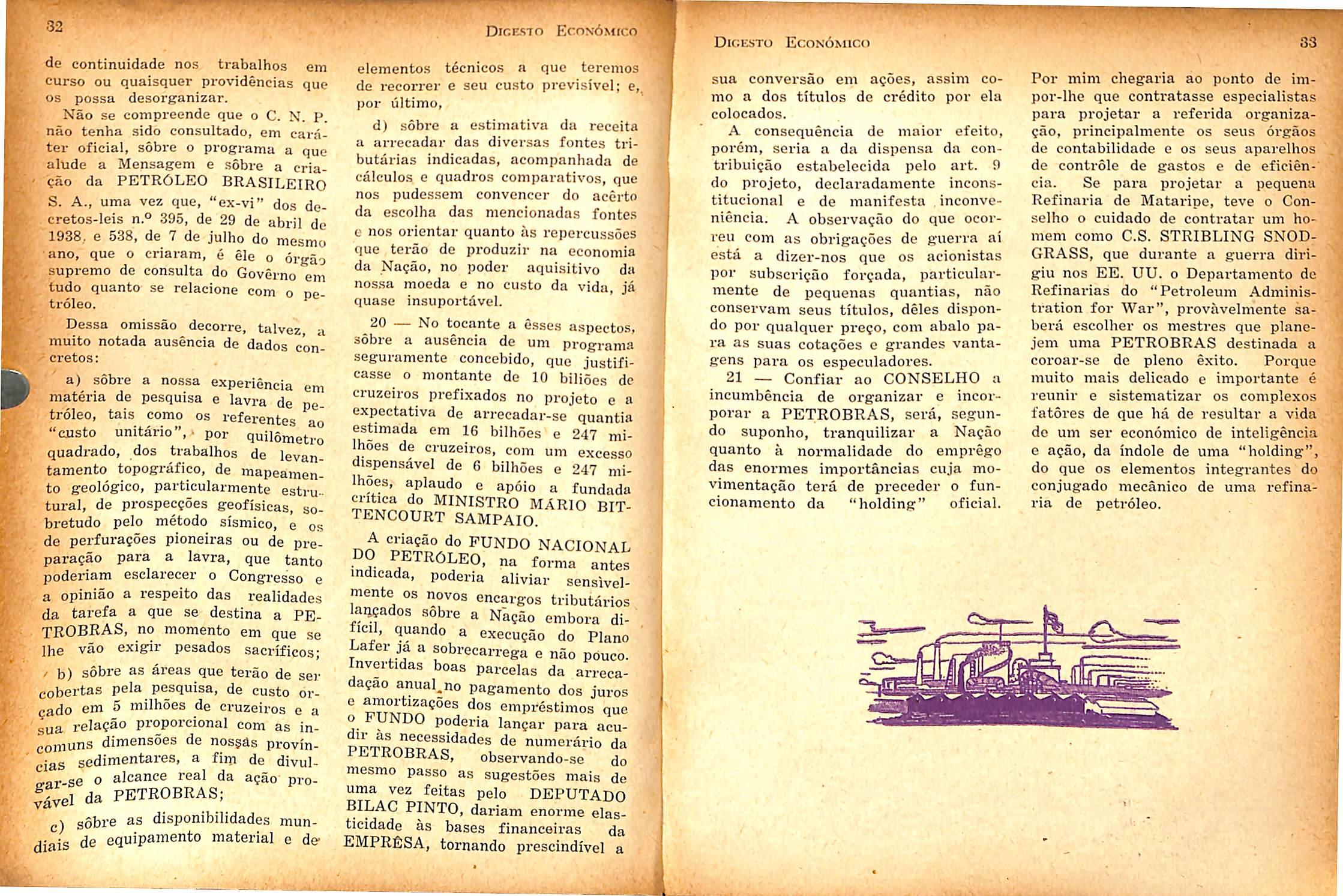
dos de- ex-vi mesmo o órgão -no em com o pe-
elementos técnicos a que teremos de recorrer e seu custo previsível; e, por último, d) sobre a estimativa da receita a arrecadar das diversas fontes tri butárias indicadas, acompanliada de cálculos e quadros comparativos, que nos pudessem convencer do acerto da escolha das mencionadas fontes e nos orientar quanto às repercussões que terão de produzir na economia da Nação, no poder aquisitivo da nossa moeda e no custo da vida já quase insuportável.
No tocante a êsses aspectos, 3ôbi*e a ausência de 20 um programa
Dessa omissão decorre, talvez muito notada ausência de dados eretos; co seguraniente concebido, que justifi casse o montante do 10 biliões de
a) sôbre a nossa experiência matéria de pesquisa e lavra de tróleo, tais como os custo unitário", referentes . ● por quilôm
ao a mapeamensoe os prerealidades seioros c a prova mundíais
em peetro quadrado, dos trabalhos de levan tamento topográfico, de to geológico, particularmente estru tural, de prospecções geofísicas, bretudo pelo método sísmico, de perfurações pioneiras ou de paração para a lavra, que tanto poderíam esclarecer o Congresso e a opinião a respeito das da tarefa a que se destina a PETROBRAS, no momento em que se lhe vão exigir pesados sacríficos; > b) sôbre as áreas que terão de cobertas pela pesquisa, de custo çado em 5 milhões de cruzeir sua relação proporcional com as ínconiuns dimensões de nosçâs provín cias sedimentares, a fim de divul gar se 0 alcance real da ação Sei da PETKOBRAS; c) sôbre as disponibilidades is de equipamento material e de-
n●uzeiros prefixados no projeto expectativa de arrecadar-se quantia estimada em 16 bilhões e 247 mi lhões de cruzeiros, com um excesso üispensável de 6 bilhões Ihões, aplaudo
Cl e a e 247 nii-
... , ® apóio a fundada ●itica do MINISTRO MARIO TENCOURT SAMPAIO.
ci BITna forma antes sensiv poderia aliviar elmente os novos 1 j - encargos tributários laijçados sobre a Nação ombora diricil, quando a Lafer já a sobr Invertidas boas dação anual
execução do Plano ecarrega e não pouco, parcelas da arreca.no pagamento dos juros ^ empréstimos que o FUNDO podería lançar para dir às necessidades de PETROBRAS,
acunumerário da observando-se mesmo passo as sugestões mais do vez feitas pelo DEPUTADO BILAC PINTO, dariam enorme elas ticidade às bases financeiras EMPRÊSA, tornando prescindível í s
do uma da a
Dir.K-sin Econômico 1 ●32
DO petrôIe™’'^® nacional indicada,
sua conversão em açoes, assim co mo a dos títulos de crédito por ela colocados.
A consequência de maior efeito, porém, seria a da dispensa da con tribuição estabelecida pelo art. H do projeto, declaiadamente incons titucional e de manifesta inconve niência. A observação do que ocorcom as obrigações de guerra aí está a dizer-nos que os acionistas por subscrição forçada, particular mente de pequenas quantias, não conservam seus títulos, dêles dispon do por qualquer preço, com abalo pa ra as suas cotações c grande.s vanta gens para os especuladores. Confiar ao CONSELHO a incumbência de organizar e incor porar a PETROBRAS, será, segun do suponho, tranquilizar a Nação quanto à normalidade do emprego das enormes importâncias cuja mo vimentação terá de preceder o fun cionamento da
reu 21 oficial. holding
Por mim chegaria ao ponto de impor-lhc que contratasse especialistas para projetar a referida organiza ção, principalmente os seus órgãos de contabilidade e os seus aparelhos de controle de gastos e de eficiên cia.
Se para projetar a pequena Petroleum AdminisPorque
Refinaria de Mataripe, teve o Con selho o cuidado de contratar um ho mem como C.S. STRIBLING SNODGRASS, que durante a guerra diri giu nos EE. UU. o Departamento de Refinarias do tration for War”, provavelmente sa berá escolher os mesti’es que plane jem uma PETROBRAS destinada a coroar-se de pleno êxito, muito mais delicado e importante é reunir e sistematizar os complexos fatores de que há de resultar a vida do um ser econômico de inteligência e ação, da índole de uma “holding”, do que os elementos integi’antes do conjugado mecânico de uma refina ria de petróleo.
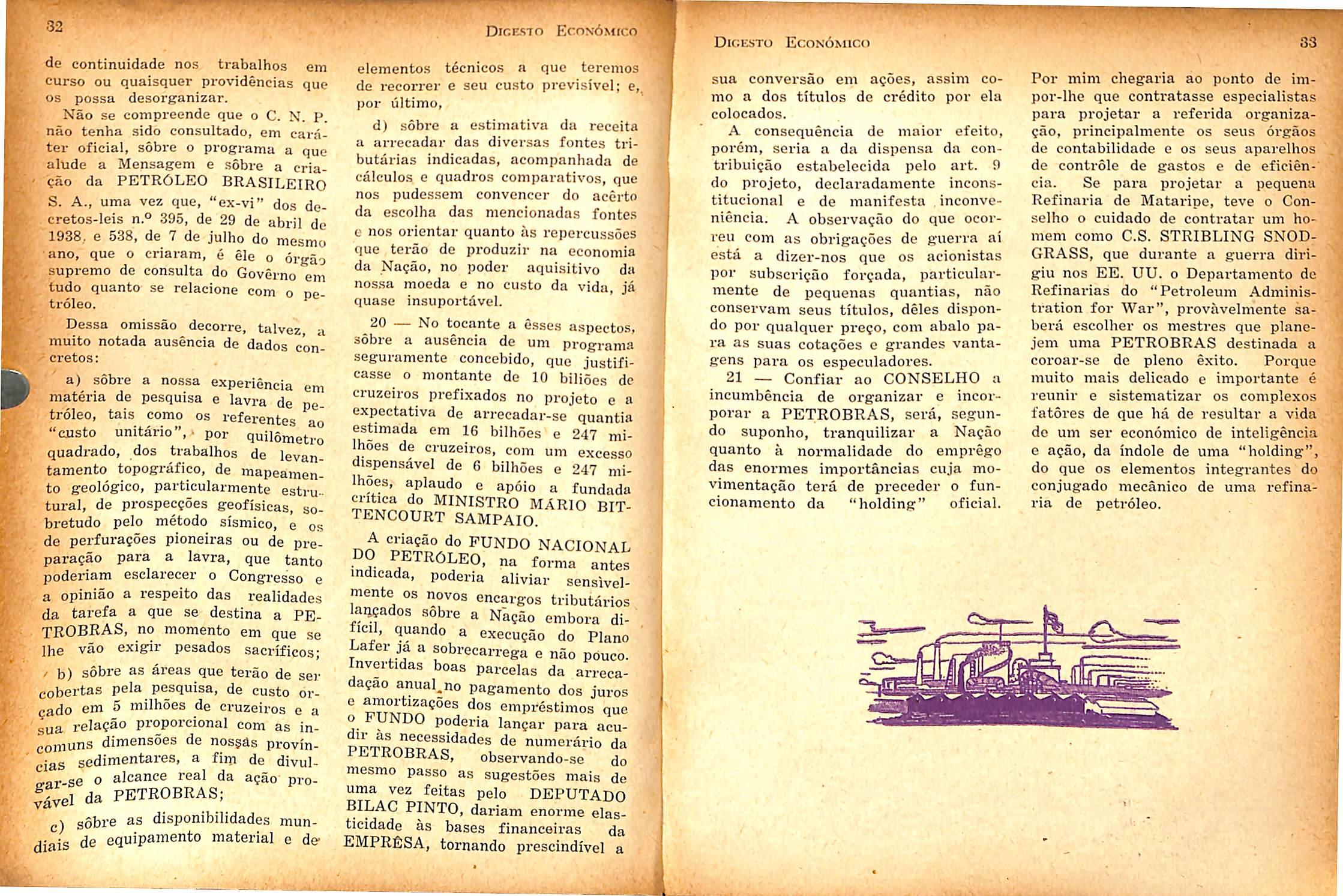
Dioksto Econômico 33
P-RISE DO DIREITO E DIREITO DA CRISE
● Aroxso Abinos de Melo Franco
; (Oração de sapiência proferida na Faculdade Nacional de Direito do lilo de faneiro)
?' 1 — Finalidade da aula
Muito se fala, hoje. em crise do W- Direito, tanto nas relações de indiI» víduos dentro do Estado, quanto F relações entre Estados, dentro da comunidade internacional, preocupação geral com este alarr mante problema, que as palavi-as destinadas a designá-lo — crise do Di reito ou outras equivalentes
culturais, como também nos traba lhos legislativos de toda ordem, è certo que a crise do Direito não existe.

nas Tal é a pas-
a fazer parte do vocabulário de todo dia, quer na imprensa, r ● mesmo, nas conversas habituais.
Nosso propósito é oferecer
Ao contrário. Sendo o conhecimen to jurídico uma das formas principais da experiência humana e sendo todo conhecimento científico de fundo . perimental, é lógico que a variação sem precedentes de experiências his tóricas que tem atravessado a huma nidade, nos últimos decênios, seja pro picia ao enriquecimento do DireitoAssim, como consequência direta as mutações históricas, prossegue em ritmo crescente a elaboração juI íca, visível nas várias aquisições e iniciativas, cujos aspectos mais gei-ais procuraremos, adiante, Mas, da mesma forma que a expe- ^ iiencia histórica atravessa inegávelmente uma fase de instabilidade visao, — parecendo e.,distante
exressaltar./ e dimesmo, incerto Qualquer período d
saram quer, » ● ^ in¬ significante contribuição à análise de certos aspectos da crise do Direito no nosso tempo, bem como ajuntar algumas reflexões sobre o Direito da crise atual. ■/I 2 — Existência crise e inexistência da .●l* 4 e acal mia e composição, tanto mas internos nos problecomo nos internacionais
r
Ao entrarmos na apreciação da ma téria impõe-se, desde logo, um escla recimento preliminar.
i ■ t/*● o conhecimento jurídico, rico embora de tentativas ras.
A crise do Direito pode derada existente ou ser consiuão existente ' ● conforme a maneira pela qual é apre,, ciado o assunto, se do ponto de vista científico, se do ponto de vista social.
também . . . - - renovado- . está hoje longe de atingir às lar
{.^ gas sistematizações de doutrinas e às :● convergências conceituais que marcam as épocas de prestígio e validez ' do Direito social, ou aplicado.
Apreciada do ponto de vista por nós ; chamado científico, que é aquele que diz respeito ao prosseguimento da elaboração jurídica, não só nas pesquisas e generalizações doutrinárias
dos professores, Faculdades e centros
A crise do Direito não se manifesta, pois, no que concerne à sua elabor*a- .s ção; não denuncia qualquer estiolamento da fôrça vital do conhecimen-
> 1
t
■
^
k
' -»
o Direito
to jurídico. Essa crise revela, ape nas, as contradições da experiência histórica de que resulta. E’ uma cri se de aplicação do Direito que, se denota fracassos às vezes decepcio nantes no poder do pensamento jurí dico para criar, e da regida jurídica para aplicar soluções ap mesmo tem po amplas e eficazes; por outro lado indica, pela multiplicidade e riqueza de novas pesquisas, que acompanha e, às vezes, precede as transformações da História c, tam bém, que o Direito continua a ser a única fôrça social capaz de encami nhar tais transformações no sentido do menor sofrimento e do maior be nefício para os homens.
Delimitada desta maneira a crise do Direito como interessando apenas ao campo da sua aplica ção, ou seja, ao que cha mamos aciipa Direito so cial, para facilidade de expressão, observemos, ago ra, que ela pode ser consi derada em dois aspectos principais.
O primeiro coloca a crise do Direito em função do que poderiamos denominar a crise dos direitos, ou me● Ihor, diz respeito à deca dência do individualismo jurídico, pelo menos na sua concepção clássica. O se gundo aspecto, até certo ponto decor rente do primeiro, concerne ao que chamaríamos crise da legalidade e espelha uma espécie de insatisfa ção geral, quando não de insurrei ção generalizada, contra as prescri ções do Direito positivo, insuficien tes para debelar as dificuldades do presente.
O Estado, pelo menos na sua apre sentação moderna — assim considera da aquela que surge com o fim a Idade Média e o princípio do Renas cimento — foi a construção supi*ema, de caráter social, político, jurídmo e administrativo, levantada em defe sa do indivíduo.
^ A valorização do homem, que con''duziu o pensamento da Idade Moder na ao humanismo, no campo da filo sofia, é, no fundo, o mesmo movimen to que, considerado nas suas manifes tações políticas e jurídicas, visou a preservar os interêsses do indivíduo, através das várias manifestações do individualismo.
aliás, deixar DevemoS; claro que tanto o humafilosófico quanto o nismo individualismo político-jurídico, fontes do Estado moderno, são movimentos de síntese, e, neste sentido, não se confundem propria mente com’o personalismo.

Por personalismo dese jamos designar o esforço à identifica- que visasse ção diferenciada das ne cessidades de cada membro do gimpo social, tomado no que tem de peculiar, de pessoal, e à sua satisfação, seria, evidentemente, um esforço de/sintegrador e anti-social, insuscetível de chegar às sínteses do Direito ou da política do Estado.
Por consequência o personalismo, na vida social, merece o mau conceiNão conduz ao
Êste to em que é tido. Direito, mas à negação dêle.
3 —
35 ’■
Crise
do individualismo jurí dico
Díoksto Econômico
O personalismo só é aceitável guan do se situa fora do campo jundico. Então a afirmação das diferenças pode ser criadora, como no caso da Arte, que é. considerada deste angude personalismo, de necessidades lo, uma afirmaçao isto é, a expressão c estritamente artística) e a sua satisfação (realiartística).
(inspiração pessoais zaçao
Outra forma elevada de personalisos crentes, c o religioso, mo, para mas a sua cogitação é também estra nha ao Direito, ó dado atender a certas necessidades humanas no que têm de diferentes das dos outros homens (necessidade.s religiosas e espirituais) c também só Deus, como pensam os crentes, julgará separadamente cada alma no Juízo Final, considerando os erros e
Somente a Deus í acertos de cada uma, sem necessida de de fórmulas preestabelecidas nem de integrá-las em categorias.
Não confundamos, portanto, indi vidualismo com personalismo. Podedizer que, juridicamente, o indivíduo é o homem-símbolo, é o ho mem tomado apenas nos seus caractegerais, de participante do grupo social, e, por este lado, igual a todos demais que do grupo participem.
cientifica que decorreu da revolução industrial, teve correspondência um certo tipo de individualismo polí tico e jurídico, que foi o liberalismo. , ^^as, como já tem sido salientado pe los maiores con.stitucionalistas mo dernos, a democracia, sendo sempre, de certo modo, individuali.sta, não é neceasàriamente liberal. O liberalis mo é uma fase superada da democra cia, mas esta persiste e funciona nos seus elementos essenciais — livre es colha dos governantes, temporariedade dos mandatos, liberdades indivi duais e suas garantias — sem qual quer necessidade de apoio naqueles postulados contrários ao intervencio nismo estatal, que corresi)ondiani. exatamente, à identidade do libera lismo político com o econômico.

Resumindo esta parto da exposição poderemos concluir que o individua lismo jurídico não se confunde com personalismo, não conduz à uõírigualdade e compõe-se com a democracia.
No entanto, apesar disso, aludimos a sua crise, como sendo um dos as-, pectos capitais da crise do Direito. Tentaremos agora, justificar tal as sertiva.
I Por isto mesmo é que, desde o seu iní cio, isto é, desde a afirmação da teo ria do Estado moderno, a noção de in dividualismo se desenvolveu parale lamente à da igualdade jurídica.
Neste ponto convém acentuar pru dentemente a distância que deve se parar o individualismo, conceito eco nômico, do individualismo, conceito lurídico e político, porque desta se paração depende, em grande parte, ^ vitalidade da democracia.
remos res os a
O individualismo econômico, teoria
Embora sendo a conceituação do indivíduo, no sistema jurídico do Es tado moderno, um processo de sínte se, não há dúvida que o mecanismo construído para garantia dos seus di reitos estabelecia visivelmente a pri mazia do humano sôbre o social.
E isso era compreensível. A socie dade medieval, no seu conjunto, era não apenas estável como também or gânica, sendo que esta última quali dade é que talvez a marcasse mais profundamente, condicionando, inclu sive, a sua própria estabilidade.
O status social era, pràticamente,
DiCESTO EcONt')Mll'() ^
em
imutável; cada homem, inteíívado no . sou írrupo, fazia as vêzes de célula de um órgão, destinado pela biologia social ao exercício de uma função determinada. mente o homem.
transitória, do social, supressão, pelo nienos do humano em benefício como se fôsse possível trabalh P la sociedade esquecendo completa
se cncon-
Ai, exatamente aí, é que tra a ruptura insoldável entre doutrinas jurídicas democrática e talitária, seja esta última comunista ou fascista.
toconhecidos acontecimen- Porém, os tos históricos que no campo da geo grafia, da religião, da técnica, da economia e da cultura cm geral sôbre os quais seria ocioso insistir aqui — determinaram a irrupção Renascimento, da Reforma o tado moderno, destruíram aquela es tabilidade social, que, diga-sc de pasimobilidade, pois o imóvel.
do do Essagem, nao era organismo é estável mas nao
A nova sociedade se constituiu, as sim, apoiada na invenção, no impulso, na aventura dos homens libertos^ das antigas obrigações de solidariedade.
O homem, como dissemos acima, transformou-se no indivíduo democrá tico, teoricamente igual e livre. Uigia, para que prosseguisse a constru ção, defender êste indivíduo, antes mesmo de defender a própria consfêz. E foi o que se trução
. individualismo Por conseguinte, o jurídico, na medida em que se preocu pou em atender ao humano antes do consequência logica social, era uma
dos acontecimentos.
Os direitos individuais diminuiram de importância no Direito democráti co, não porque tendam a desapaiecer. mas porque, muito ao contrario, se encontram, dentro dêle, defimtivamente adquiridos.
Não há nenhuma vantagem para nós, juristas democráticos, em e i mesmo esforço que os nossos car o
antecessores despenderam truir e justificar a teoria dos direitos e garantias individuais. Êlcs consti tuem um pressuposto no funciona mento da democracia e, se diminuiu sua teoria e a ênfase com que exposta pelos autores, aumentou, gra ças ao aprimoramento da técnica, principalmente judiciária, a seguranda sua defesa na vida prática.

a E ça
se no não devemos esquecer que, Direito Constitucional damos menos atenção ao problema dos direitos in dividuais, por se acharem tecnicamen te assegurados, no Direito Interna cional êles passam a preocupar sèriamente a doutrina, exatamente no pro pósito de se criar um sistema possí vel para sua defesa. Haja vista, por exemplo, os esforços das Nações nidas em prol da aceitação, por to os Declaração Unios governos
gresso nou a iseja^ , de uma versai dos Direitos Humanos.
Com o correr dos tempos, sobretu do a partir de meados do século pas sado, o indisfarçável desajustamento das condições de vida nos gran es países ocidentais, gerado pelo pi ti da industrialização, determievolução do pensamento jui dico na dii^eção antiindividualista, ou da preeminência do social sô-
bve o humano.
As escolas extremadas da ciência jurídica levam esta evolução até n
Se a nossa interpretação está certa, a ciência jurídica democrática
Dicf-stü Econónuco
considera adquiridos os preceitos es senciais do individualismo jurídico, t' mas concorda, também, em que, uma ● vez preservados êsses valores básicos, * é necessário que o Direito se esforse por colocar agora, nas suas cogitações, o social antes do humano. [ Esta colocação corresponde, afinal, a mais uma defesa dos direitos indi viduais e, portanto, da própria ideo logia democrática.
bre os postulados do individualismo jurídico, para atender às condições impostas pelo primado do social, relações jurídicas.
O que mais impressiona nesta aparência da crise do Direito é o seu feitio eminentemente destrutivo.
Com efeito, as grandes i-evoluções que encaminharam a fo2-mação do Estado individualista tinham, propósito manifesto de
na.<5 nova sempre, criai-, de construir um governo baseado naquilo <iue os constitucionalistas chamaram depois o princípio da legjilidade. mo é sabido, este principio traduzia a idéia de
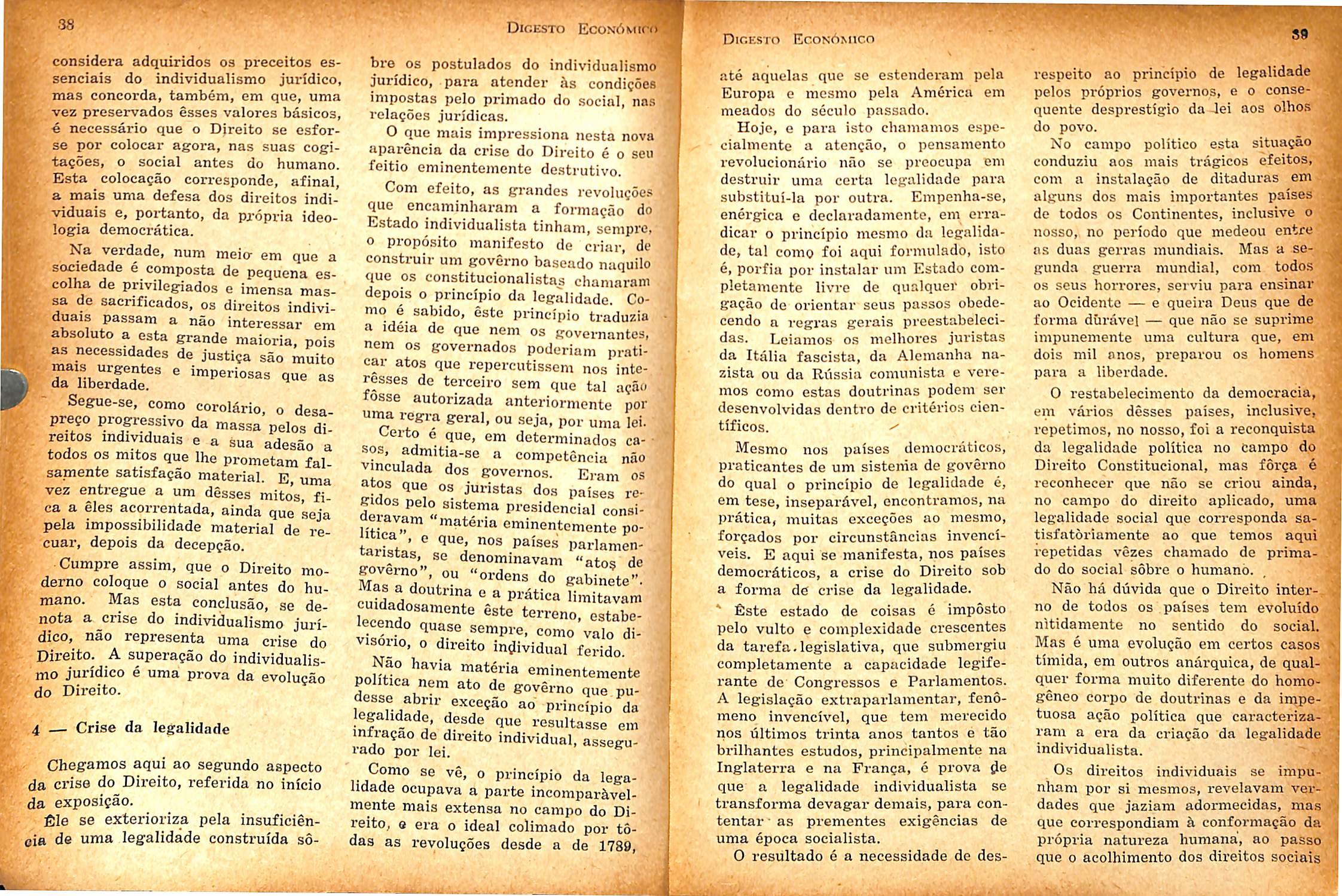
o Coque nem os governantes
F Na verdade, num meio" em que ’ sociedade é composta de / colha de privilegiado pequena e a s, . se imensa mas¬ sa de sacrificados, os direitos indivi< duais passam a não interessar absoluto a esta grande em 4 , jn-atinos inte-
‘í
., . maioria, pois as necessidades de justiça são muito J mais urgentes da liberdade.
' Segue-se,
e imperiosas que as como corolário
a re-
●-«V-I À , o desapreço progressivo da massa pelos dit reitos individuais e a sua adesão 5- todos os mitos que lhe prometam fal samente satisfação material. E, uma vez entregue a um desses mitos, fig. ca a êles acorrentada, ainda que seja pela impossibilidade material de cuar, depois da decepção.
Cumpre assim, que o Direito ■ demo coloque o social antes do huS; mano. Mas esta conclusão, se dey nota a crise do individualismo juríC, dico, não representa uma crise do y.- Direito. A superação do individualisino jurídico é uma prova da evolução ' do Direito.
4 — Crise da legalidade
nem os governados poderíam car atos que repercutissem rêsses de terceiro sem que tal açãi» tosse autorizada anteriorniente por uma regra geral, ou seja, por uma lei. t>erto e que, em determinados ísos, admitia-se a competência vinculada dos atos
canao Eram os governos, que os juristas do
.s países re gidos pelo sistema presidencial “í^íitéria eminentomente tarista’<í^ países parlameniistas, se denomin
consipoavam “atos de “o cuklnl ° limitavam cuidadosamente êste terr lecendo e
mono, estabequase sempre, como valo dio direito individual ferido. Nao havia matéria eminentemente p litica nem ato de governo que pufpt princípio da legalidade, desde que resultasse em inlraçao de direito individual, rado por lei.
Chegamos aqui ao segundo aspecto ^ da crise do Direito, referida no início da exposição. Êle se exterioriza pela insuficiên cia de uma legalidade construída sô-
visório. assegu-
O
*r:a < .38 Dioesto Ecünó m iri
Como se vê, princípio da lega lidade ocupava a parte incomparàvelmente mais extensa no campo do Di reito, 0 era o ideal colimado por to das as revoluções desde a de 1789, IjV.
até aquelas que se estenderam pela Europa e mesmo pela América em meados do século passado.
Hoje, e para isto chajuamos especialmente a atenção, o pensamento revolucionário não se ])rcocupa em destruir uma certa legalidade para .substituí-la por outra. Empenha-se, enérgica e declaradamente, em erra dicar o princípio mesmo da legalida de, tal como foi aqui formulado, isto é, porfia por instalar um Estado com pletamente livre de qualquer obri gação de orientar seus pa.ssos obede cendo a regras gerais preestabelecidas. Leiamos os melhores juristas da Itália fascista, da Alemanha na zista ou da Rússia comunista e vere mos como estas doutrinas podem ser desenvolvidas dentro de critérios cien tíficos.
Mesmo nos países democráticos, praticantes de um sistema de governo do qual o princípio de legalidade é, em tese, inseparável, encontramos, na prática, muitas exceções ao mesmo, forçados por circunstâncias invencí veis. E aqui se manifesta, nos países democráticos, a crise do Direito sob a forma de crise da legalidade. ' Êste estado de coisas é imposto pelo vulto e complexidade crescentes da tarefa.legislativa, que submergiu completamente a capacidade legiferante de Congressos e Parlamentos. A legislação extrapai-lamentar, fenô meno invencível, que tem merecido nos últimos trinta anos tantos e tão brilhantes estudos, principalmente na Inglaterra e na França, é prova jje que a legalidade individualista se transforma devagar demais, para con tentar as prementes exigências de uma época socialista.
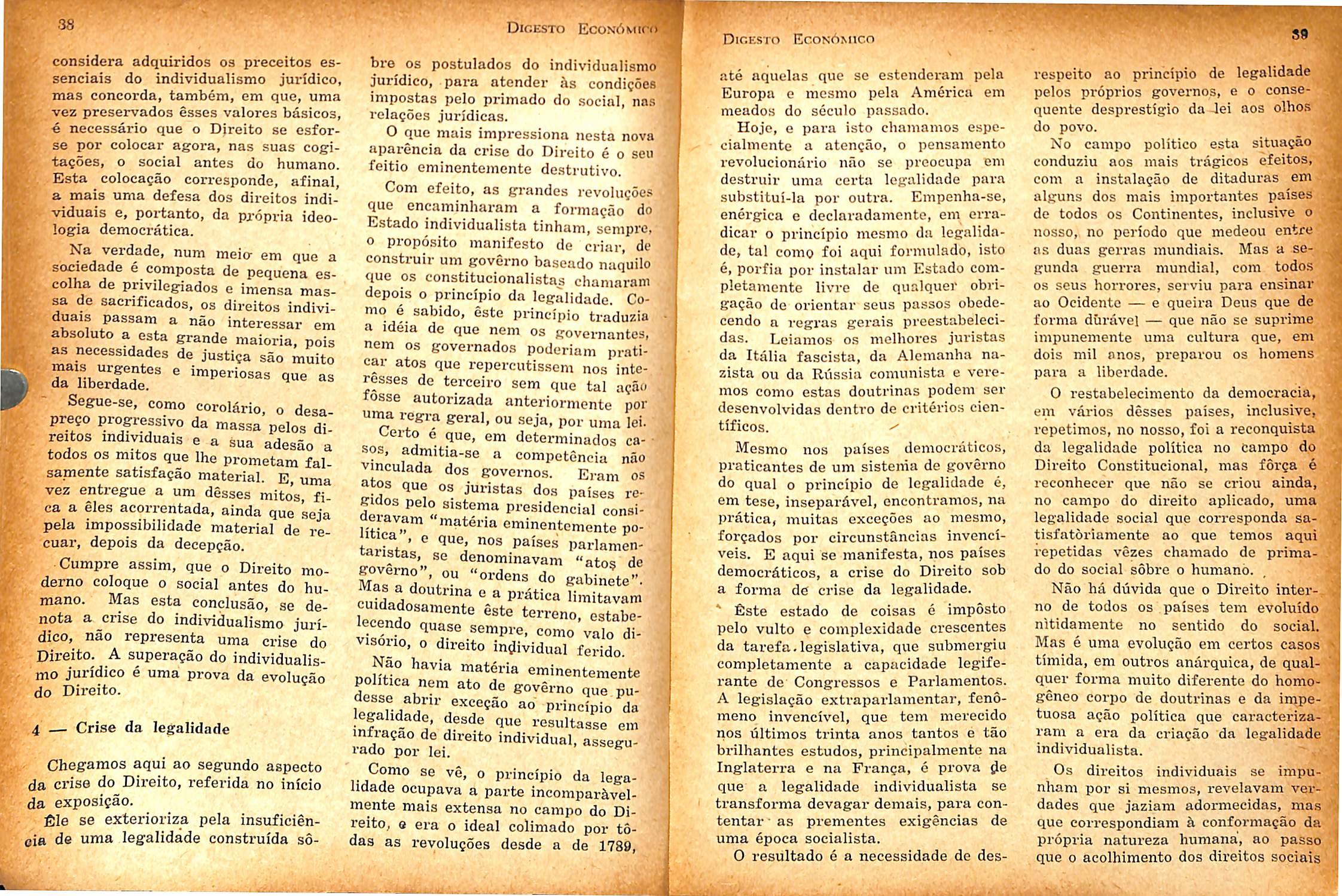
O resultado é a necessidade de des-
respeito ao princípio de legalidade pelos próprios governos, e o conse quente desprestígio da lei aos olhos do povo.
No campo político esta situação conduziu aos mais trágicos efeitos, com a instalação de ditaduras em alguns dos mais importantes países de todos os Continentes, inclusive o nosso, no período que medeou entre as duas gerras mundiais. Mas a se gunda guerra mundial, com todos os seus horrores, serviu para ensinar ao Ocidente — e queira Deus que de forma dúnWel — que não se suprime impunemente uma cultura que, em dois mil anos, preparou os homens pax*a a liberdade.
O restabelecimento da democracia, em vários dêsses paises, inclusive, repetimos, no nosso, foi a reconquista da legalidade política no campo do Direito Constitucional, mas força é reconhecer que não se criou ainda, no campo do direito aplicado, uma legalidade social que con-esponda sa tisfatoriamente ao que temos aqui repetidas vêzes chamado de prima do do social sôbre o humano.
Não há dúvida que o Direito inter no de todos os países tem evoluído nitidamente no sentido do social. Mas é uma evolução em certos casos tímida, em outros anárquica, de qual quer forma muito diferente do homo gêneo corpo de doutrinas e da impetuosa ação política que caracteriza ram a era da criação da legalidade individualista.
Os direitos individuais se impu nham por si mesmos, revelavam ver dades que jaziam adormecidas, mas que correspondiam à conformação da própria natureza humana, ao passo ' que o acolhimento dos direitos sociais
S9 Dioesto Econômico
h
encontra resistências, porque contra ria hábitos e mesmo cai-acteres adqui ridos.
A rapidez na evolução do Direito político e o emperramento na trans formação do Direito social nitidamente neste aparecem aparente parado xo, que é, nos países de Constituição escrita, a sucessão de Constituições contrastando com a firmeza dos Có
digos de Direito privado. A lei cons titucional, feita teoricamente para durar sempre, morre e renasce em cada revolução na França, Itália, Es panha ou Brasil. “ Códigos desafia: los, e só se transformam parcialmente, e como a médo. A lei não tem acompanhado a evolução política do ü.staao democrático.
Enquanto isso, os ni os anos c os sécu-
vaacêitação da lei como regra intangível de Direito Em muitos casos assistimos indubitavel mente a criaçao invencível de D.re. o fora da lei, às vêzes até con tia ela Nao devemos recuar diante das palavras E- inútil falarmos, como certos autores franceses, em Tegahdade de tempo de criso m- ● legalidade de crise. legaUdadf fo';“
Hoje, a situação é muito outra. Em todos os países do mundo os melho3-es escritores do Direito Público clamam a urpento transformação dos métodos Icpislativo.s, para se evitar o colapso deste Poder democrático.
pronecessidade da
cado nao e mas o contrá0 fato social mene peculiar
N^ote-se (jue o fenômeno ‘iq-i indisuniàriamentc não se confunde com o processo normal e tradicional da transformação do Direito fora dos quadros legais. Normalmente a lei que cria o Direito, rio é que se dá. ‘ cionado por nós é outro, ■ a nos.sa época, pelo monos no que toca às suas aparências do duração e generalidade.
Trata-.se da existência de reito positivo, feito de mentárias, do lidente norm um DiPor tôdas mos que vacila essas razões obser as fragmaneira irregular, com leis não derrogadas.' tuação resultante
a que se insista — do desajustaniento entre a irreversível decadência do individualismo jurídico e a incapaci dade do legislativo democrático, devi da a razões técnicas e a resistências reacionárias, para criar, no tempo preciso, a estrutura dc uma nova le galidade.
iDréll?raa\f“íf°
« 1 ● í , ’ menos con¬ tra a lei formal
um 'a .
^ —^Direito da crise
coSisempre 6 bom
A razão principal desta do direito contra a lei reside ver, na técnica demasiado da elaboração da lei formal A função legislativa
a um em ser sempre
rebeldia a nosso retardada ordinária. , ^ países de¬ mocráticos, obedece, ainda hoje, processo só compatível com á fase histórica de estabilidade social, que a lei escassa podia confeccionada nos arrastados traba lhos das grandes assembléias.

Chegamos, despretensiosa ao fêcho desta. Nêle, como assim, exposição, cm todo o conteúdo dela. ^ nao aspira¬ mos a originalidade, mas somente a compendiar, com franqueza, idéias que preocupam a todos os juristas. Nossas conclusões, embora ras, não são pessimistas. seve-
Em primeiro lugar, não aceitamos a existência de uma crise fundamen-
r ●10 Dí(;I●●.ST() Eí:onóniiro
à
tal do Direito, nem tal absurdo seria digno sequer de discussão.
Consideramos, como todos, a cha mada crise do Direito exclusivamen te no campo da sua aplicação, claro que tal campo de aplicação in teressa também à doutrina, pois esta nem sempre é pura especulação e a maior parte das vêze.s visa à constru ção do Direito positivo.
E’ a
Creio que a contribuição da doutri na jurídica, inclusive a brasileira, qual apresenta na atual geração valores dignos de competir com os melhores do passado — pode ser da maior importância na análise dos assuntos aqui toscamcnte esboçados e nas sugestões que a respeito apre sentar.
O diagnóstico geral da crise do Di reito nos nossos dias se prende à inevitável transformação do indivi dualismo jurídico em socialismo ju rídico.
Duas têm sido as soluções que a técnica jurídica democrática tem en contrado para este fenômeno, ambas insatisfatórias.
A primeira é ceder terreno “fabianamente”, (digamos assim, em lem brança dos fundadores do socialismo inglês), recuando ora neste ponto ora naquele. A técnica fabiana tem êxi to sòmente na Inglaterra, devido ao temperamento especial e à historia particular do povo inglês, tecida de realismo, empirismo e experiência concreta, e hostil à generalização, à teoria e ao planejamento.
Em outros povos, com outra his tória, o fabianismo conduz à anar quia jurídica e, consequentemente, à crise da legalidade que é, como vimos, a apresentação objetiva e final da queda do individualismo jurídico.

A segunda maneira pouco satisfa tória de se enfrentar a evolução so cial é adniitir-se um estado perma nente de legalidade da crise, ou me lhor, é aceitar-se a formação de um direito contra a lei. Também esta atitude resulta em auxílio à crise da
legalidade que é, em suma, a maneira por que se apresenta a crise jurídi ca do nosso tempo.
Existem, contudo, meios de enfren tar essas grandes dificuldades, e êles podem ser encontrados sem abando no dos princípios democráticos.
Para se atender à transformação do individualismo em socialismo jurídico — questão de fundo — o me lhor meio é o planejamento.
A questão da compatibilidade do democracia tem não podeplanejamento com sido muito discutida, mas mos levantar aqui o rol dos argumen-
a i tos pró e contra.
Os economistas liberais de irrecusável ainda hoje os há, e alguns mérito — opõem-se frequentemente planejamento, considerando-o forde ditadura. Porém, os políticos juristas democráticos não par ticipam mais desta radical opinião. Hoje se tem por assentado, conforme lembramos de início, que, preserva das as regras básicas da liberdade democrática, a política intervencionista do Estado não é incompatível
E 0 planejamento é
ao ma e os com o regime, a forma superior e sistemática do intervencionismo.
Naturalniente o planejamento de mocrático difere muito do ditatorial. Seu objetivo é o de alargar sempre conceito de liberdade, transportan do-o do campo político para o econô mico.
o
.4s reformas agrárias, a participa-
Digesto Econômico 41
Br Ção cada vez maior do trabalhador If;, nos benefícios da empresa, o desenp volvimento da assistência social, a K justiça fiscal traduzida principalmenj te na sábia organização do imposto ^ sobre a renda, a democratização do ) ensino, a exploração estatal das fontes de energia e dos combustíveis, a ! luta contra os preconceitos ^ tudo isso e mais alguns outrr tos constituem os elementos ft- organização,
raciais, os assunpara a em conjunto, de
segundo aspecto da crise do Direito, aspecto formal, que é a crise da lePralidade.
I grande plano jurídico e político, que presida à transformação do indivi dualismo jurídico de ontem lismo jurídico de amanhã, sem aban^no da umca forma digna do con vívio humano, que é o regime demo , cratico.
Mas êste grandeexige uma reforma dos gislativos, que venha
um iio sociaempreendimento j métodos lePôr cobro a
O mecanismo constitucional de qua se todos, se não do todos os países democráticos, ainda é êste respeito, jurídica encontre saída para o impas se, dando rapidez e flexibilidade n função legislativa, tornando de criar com eficiência iidade.
retrógrado a Urffe que a doutrina -a capaz u nova lega-
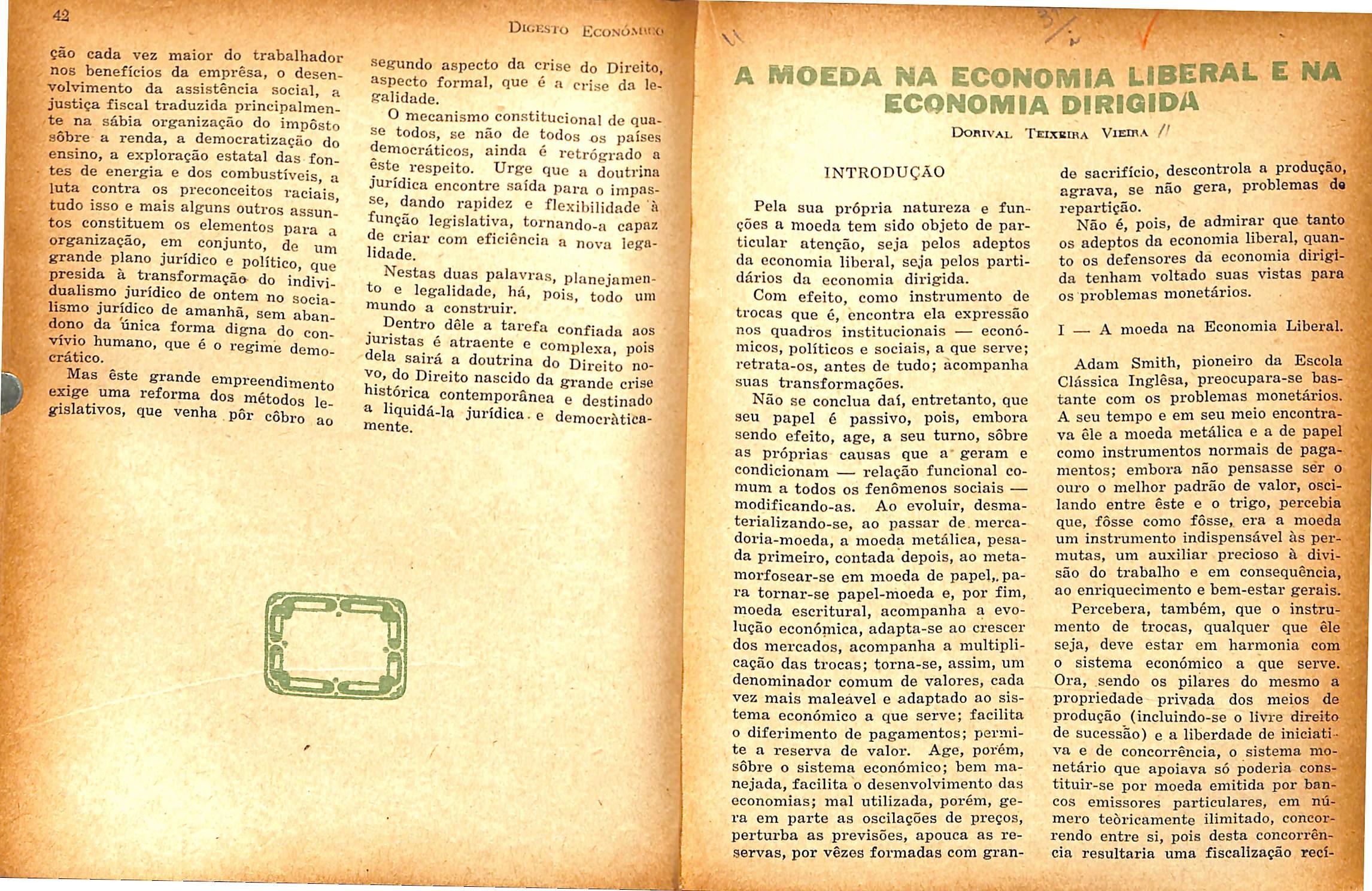
^restas duas palavras, planejamento e legalidade, há, mundo a construir.
Pois, todo um o
Dentro dêle a tarefa confiada aos juristas e atraente e complexa, pois vn ^ doutrina do Direito novo, do Direito nascido da grande crise mstorica contemporânea e destinado a hquidá-Ia jurídica, e democrática-
:í \42 / * r ' Ecünom» (● ■ Di(;iísio
/ í 1 I ■ >
A MOEDA NA ECONOMIA LIBERAL E ECONOMIA DIRIGIDA
DonivAL Teixbiha Vieira /'
INTRODUÇÃO
Pela sua própria natureza e fun ções a moeda tem sido objeto de par ticular atenção, seja pelos adeptos da economia liberal, seja pelos parti dários da economia dirigida.
Com efeito, como instrumento de trocas que é, encontra ela expressão nos quadros institucionais — econô micos, políticos e sociais, a que serve; retrata-os, antes de tudo; acompanha .suas transformações.
Não se conclua daí, entretanto, que seu papel é passivo, pois, embora sendo efeito, age, a seu turno, sobre ns próprias causas que a geram e condicionam — relação funcional co mum a todos os fenômenos sociais niodificando-as. Ao evoluir, desmaterializando-se, ao passar de mereadoria-moeda, a moeda metálica, pesa da primeiro, contada depois, ao metamorfosear-se em moeda de papel,,pa ra tornar-se papel-moeda e, por fim, moeda escriturai, acompanha a evo lução econóniica, adapta-se ao crescer dos mercados, acompanha a multipli cação das trocas; torna-se, assim, um denominador comum de valores, cada vez mais maleavel e adaptado ao sis tema econômico a que serve; facilita o diferimento de pagamentos; permi te a reserva de valor. Age, porém, sôbre o sistema econômico; bem ma nejada, facilita o desenvolvimento das economias; mal utilizada, porém, ge ra em parte as oscilações de preços, perturba as previsões, apouca as re●servas, por vezes formadas com gran-
de sacrifício, descontrola a produção, agrava, se não gera, problemas d« repartição.
Não é, pois, de admirar que tanto adeptos da economia liberal, quan-| defensores da economia dirigl-| os to 03
da tenham voltado suas vistas para problemas monetários. ■ í os
I A moeda na Economia Liberal.^ "*1
Adam Smith, pioneiro da EscolaJ Clássica Inglesa, preocupara-se bas-j tante com os problemas monetários.'? A seu tempo e em seu meio encontra- v va ôle a moeda metálica e a de papel * instrumentos normais de paga- ^ como mentos; embora não pensasse ser o ■ ouro o melhor padrão de valor, osci-^ lando entre êste e o trigo, percebia^ que, fosse como fosse, era a moeda ^ um instrumento indispensável às per-^ mutas, um auxiliar precioso à divi-^ são do trabalho e em consequência,^ ao enriquecimento e bem-estar gerais.^ Percebera, também, que o instru- I mento de trocas, qualquer que êle g seja, deve estar em harmonia com B 0 sistema econômico a que serve^ Ora, sendo os pilares do mesmo a] propriedade privada dos meios dej produção (incluindo-se o livre direitoj de sucessão) e a liberdade de iniciati-g va e de concorrência, o sistema rnoj netário que apoiava só poderia cons^ tituir-se por moeda emitida por ban-g COS emissores particulares, em nú-g mero teoricamente ilimitado, coneor-J rendo entre si, pois desta concorrêu'^ cia resultaria uma fiscalização recí-||
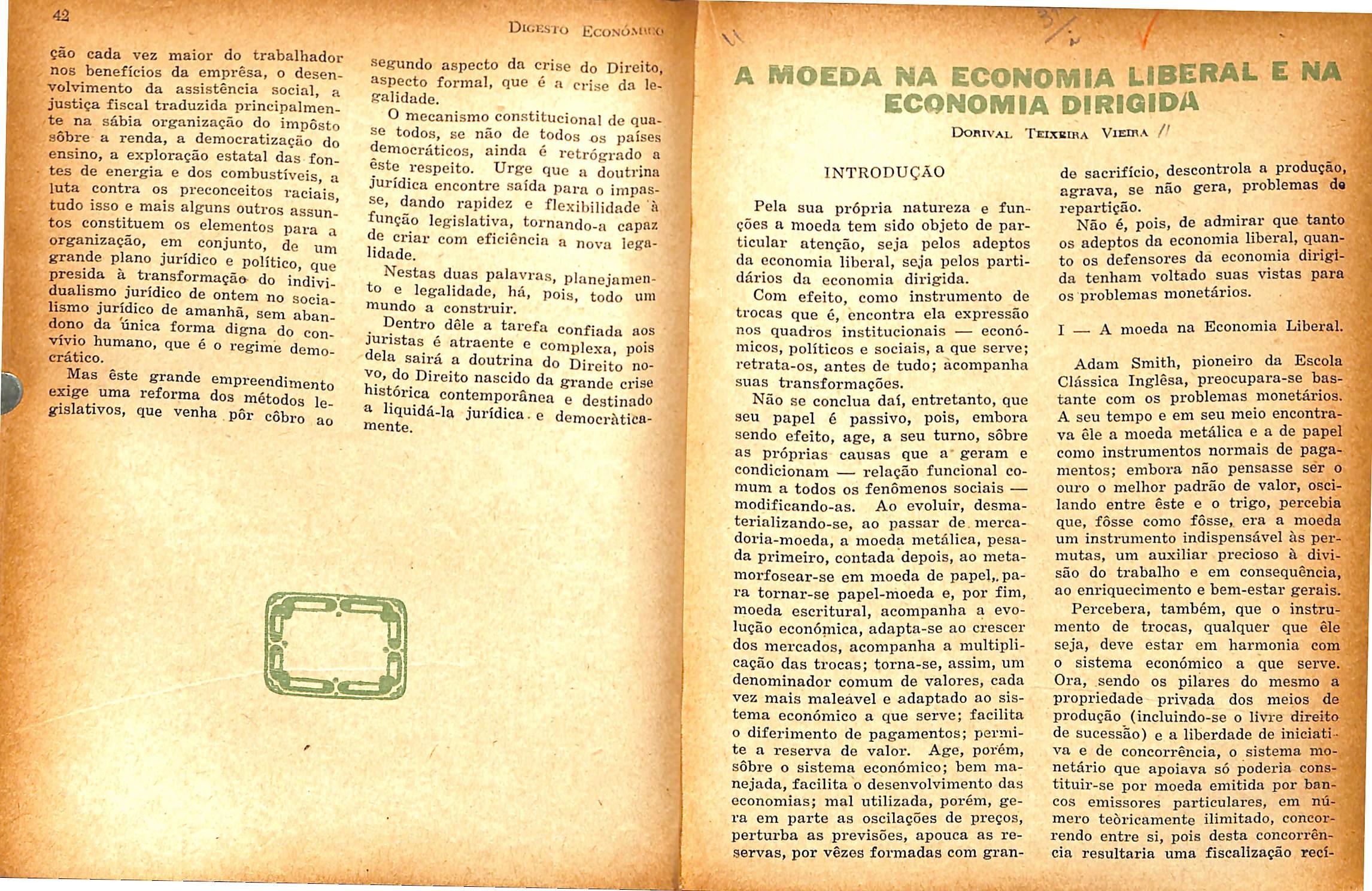
\V K» ^
hiA.J 1
proca, a todos benéfica. E’ verdade <JUG, como medida de prudência, êle ■ e alg^uns dentre seus sepuidores acon, selhavam que fôsse emitida moeda í de papel parcialmente fiduciári ^ isto é, garantida por um lastro me* tálico parcial. (A prudência e a prá1 tica aconselhavam 2/3 de cobertura) Surgiu assim o princípio bancárioaci-editavam mais êstes .liberai.s que o sistema monetário, assim organizado, possuía funcionamento
la. automáti
), nos períodos de expansão dos , gócios, o incremento das atividad teria como fator adjuvante o crédito facil, pelas emissões bancárias rantidas pelo próprio surto de pros peridade; ao contrário, se as atividades sofressem retração, o dinheiro » afluiria aos guichês do banco emissoí ■ o qual, a medida que convertesse c ’ ^ especie as suas notas, incinerá-las- a ● f- a redução da procura de
em numerário L coincídiria com
co nees ga¬ ,
1824 e 183G, principalmente, mostra- i ram que longe do uma contração dc ' crédito automática, na depressão , bancos poderiam ser levados tir, em lugar de incinerar as notas, pai-a acudir aos reclamos do crédia espei-ança da transitoricdade da depressão, levaria os produtores e comerciantes a re.sistir à contração da procura e à queda dos preços, não só deixando dc levar as notas ao troco, como ainda mais, exigindo mais dinheiro; éste, quando emitido o dis tribuído pelo banco, através da con cessão de créditos, levaria a quebra cJa relaçao de segurança entre lastro e volume da emissão, fato tanto faeil de

os a omito; mais ocorrer quanto propor
ciona
va lucros maiores para os banqueiros e justificaria um apôlo ao Estado corrida eni caso de
a contração do mo da circulação, r. seu montante sempre [, com 0 volume das tr isto só contribuiría
conservando a as as novas emisa recuperação h eco-
Segundo bancos este, a pluralidade dos emissores é ante«5 cilLndo
nm todo, fa¬ cilitando imprudências oriundas do
Principio BancáHO facilitava a inflação e, Kicardo contrapõe-lho netário. por isso. o Princípio Mo¬ volu-se 0 em harmonia ansações. Tudo para garantir , confiança dos portadores nas notas ’ bancárias e, uma vez removidas causas de depressão, sões facilitariam *' nómica do país.
impedindo que^oEstedTp telar n - ii^stado possa acaunotas a pm-tadores de cedei ’. ' deve dei lugai ao monopólio de emissão, a moeda de
-se
vera ser rigorosamente representati va, pois somente assim poder-se-ia gaiantn- o automatismo do sistemase. por um lado. a rigidez do sistema lavoiecia a eclosão dc depressão
Além disso. papel deuma crise, a seria menos intensa cau
Dentro de tal ^ _ mecanismo, como se ^ ve, quase nao havia lugar para a ^ ação do Estado, fora de sua missão de conceder licenças de funci fiscalizar indiretamente onamento, ., , , apenas as atividades bancarias e intervir tão só em caráter acidental e esporádico, quando solicitado — caso de “corrida”, por exemplo. uma , sando menores danos. Além do a experiência demonstrara mais, que a ex-
4i Dicksto Kconó.víicí^ >●
L
Os fatos, porém, encarregaram de desmentir tão magistral, quanto hipotético esquema; as crises de 1816, J
cessiva elasticidade teórica e pràticamente até então existente, não fôra capaz de impedir as alternâncias de prosperidade e depressão, contribuin do antes para agravá-las.
Esta discussão, dividindo os clássi cos, quanto ao funcionamento do sis tema monetário, revela duas preocu pações principais: uma de conseguirse relativa estabilidade dos preços, através do controle monetário e outra a de fazer passar para o Estado o direito de omissão e o controle do crédito. Não dissemos que a segun da já se encontrava em Ricardo, nem em seus imediatos sucessores; mas, o fato é que seus argumentos sei*viram posteriormente de justificativa para tanto.
ções extremas e bruscas do valor da moeda. Ao lado de problemas econoelas geram problemas sociais micos
de suma gravidade, dentre os quais basta citar a proletarização da classe média.
A falha da construção clássica, base da economia monetária liberal, esta em admitir sem restrições que os prealtera a quanti- ços variam porque se dade de moeda; provada a inadequa ção, da teoria quantitativa como ex plicação suficiente destróe-se quema de contrôle da conjuntura atra vés da moeda; seu manejo facilitará as tentativas de contrôle dos preços, mas não habilitará o Estado a diri-
o esgir uma Economia.
Aliás mais uma vez, os fatos vie ram infirmar a teoria; o ato de Peel, em 1844, foi vazado inteiramente no Principio Monetário; a tenta tiva inglesa foi, posteriormen te, aproveitada por outros paí ses; mas, as crises do fim do século passado e do começo deste, a despeito de tudo, mos traram-se cada vez mais intensas e mais prolongadas; têm ferido mais fundo o sistema econômico liberal, não obstante as medidas supostas garantidoras da estabilidade da moeda.

os
A preocupação de estabilizar-se o valor da moeda e com ela os preços, é facilmente compreensível; para que a moeda seja um instrumento de trocas adequa do, é necessário que seja um denominador comum de valo res constante no tempo, pois se assim não fôr, entre dois momen tos sucessivos alterar-se-ão as rela ções de troca entre os bens; a moeda não mais exprimirá valor constante e quem acumulando-a julgou reservar um valor presente, para uso futuro, viu seu patrimônio crescer, ou redu zir-se, contrariando suas previsões e envolvendo risco. O fenômeno é tan to mais grave se considerarmos que a economia atual se alicei'ça tôda no crédito, isto é, no diferimento de pa gamentos; produz-se hoje para vender amanhã; contratam-se sei'viços, quais são executados mediante pi‘eços a serem pagos no futuro; consomese por antecipação, o que basta para avaliarmos os transtornos das varia-
Além disso, um outro fato vem ocorrendo, fruto da própria evolução da moeda, transmutador do quadro econômico e monetário contemporâ neo; os bancos de crédito, pelo uso crescente do cheque, pelo recurso compensação, pela prática dos descon tos e adiantamentos, fortalecida polo redesconto, pelas várias modalidades de financiamento e investimento, vêm agindo como poderosos propulsores da atividade econômica, ao mesmo tempo que têm concorrido, com van-
a
.15 Dk;ksto Económk;o
tagem, com os bancos emissores. A moeda escriturai, ao lado de congênere — a nota de banco, assumindo um vulto cada.vez mais imponente; mas, com isso, dificulta a política monetária de controle da conjuntura.
Daí surgirem os Bancos Centrais bancos dos bancos, coordenadores do sistema bancário, controladores do meio circulante, financiadores do Es tado e seus eficientíssimos
sua vem auxilia-
económica de cada res na política país.
Esta desmaterialização trouxe, como outra perda da noção de instrumento dos bens e ;
conseq . serviços que pe
economia pelo Estado, chegando mo à coletivização da vida econômico.
A intervenção parcial e moderada é perfeitamente compatível com o li beralismo
a idéia nas neconum lado em suas váe de outro, pelos
Itambém uência, a que a moeda, como que é, retira seu valor rmite tm. se coa^nar*com o 'onsenso™S‘a seu respeito. Tudo isto levou í de que a moeda retira seu valor da autoridade da lei e que, uma vez maos do Estado, não precisa de nhum lastro que possa garanti-la TÔda esta evolução vinha coincidir com um profundo abalo nos princí pios garantidores do sistema econó mico dito hberal — a propriedade pri vada e a liberdade de iniciativa e corrência — solapados, de pelos intervencionistas, rias modalidades, socialistas.
II — A moeda na economia dirigida.
Não se poderá negar que o libera lismo conduziu a excessos, compro metedores do sistema e que devido isto o Estado foi chamado a inter vir. Nesta intervenção podemos dis tinguir gi-aus, certa gama desde a intervenção esporádica e in direta até ao completo controle da
a que vai
mose vimos mesmo que se pro curou^ dirigir os preços através do controle da moeda. Já a intervenção total, seja determinando mento da economia nacional e pro videnciando a sua realização através da iniciativa privada, restringida pe los fins do Estado, .seja autodeterminando planos e meios, eliminando sim _a proprieda'de privada, e a con corrência, desfiguram de tal sistema econômico liberal na êle irreconhecível, segundo I lugar a outro.
o planejaasmodo 0 que se torou então, no para dar caso, desaparece
Vejamos agora o que ocorreu o sistema monotári no segundo Apontada clássicos, , tir relativa
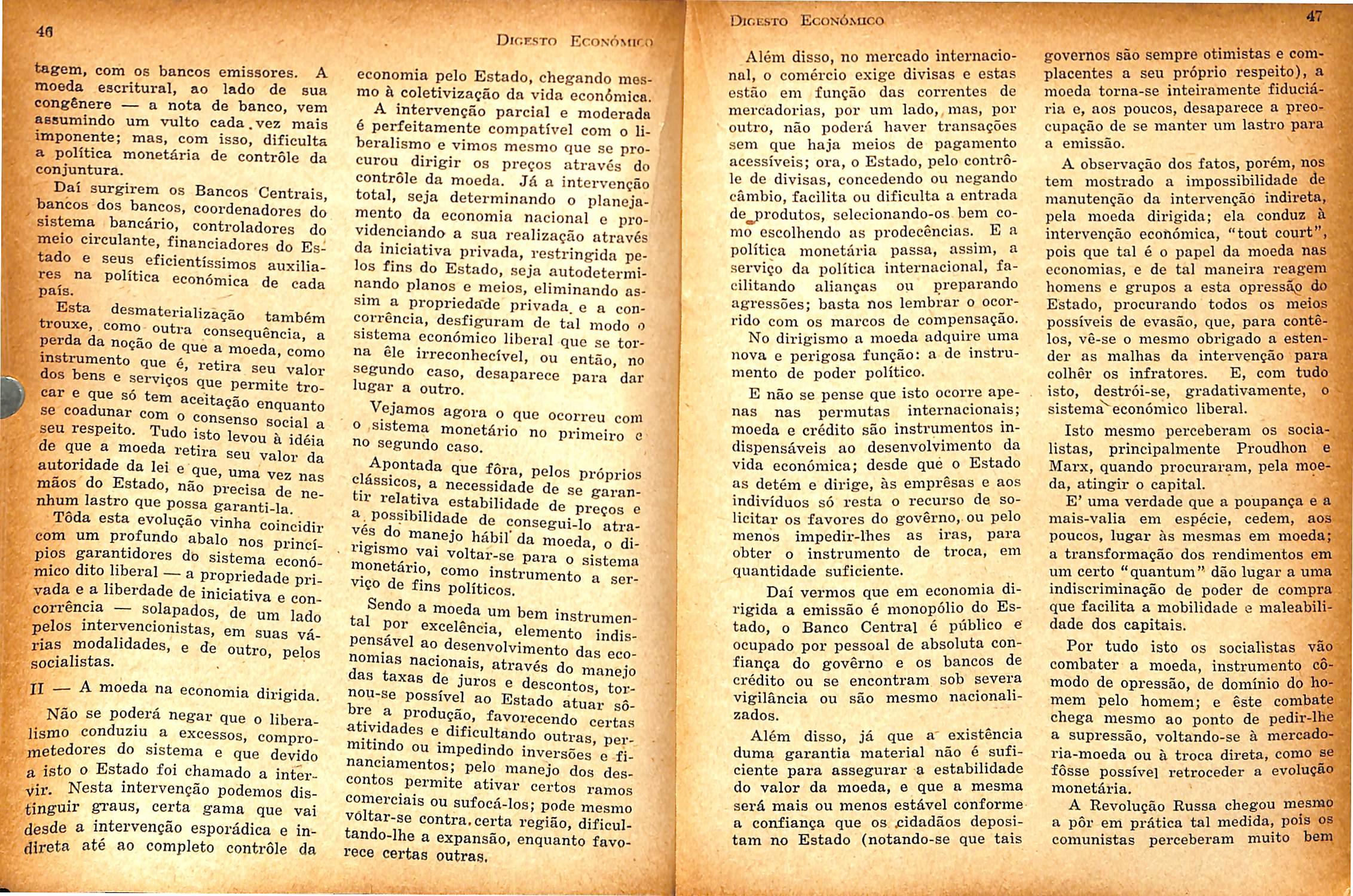
caso. que fora, pelos pró se ga
com 10 no primeiro c prios a necessidade de -- estabilidade de nrom»» g véi’" -"-euiío'traves do manejo hábil d
rana moeda Sendo
o dia serDov instrumenpensável „ elemento indis¬ pensável ao desenvolvimento das nomias nacionais, através do aas taxas de i
tal ecomanejo juros e descontos, tor- ao Estado atuar of -j favorecendo ^ atividades
nou-se possível bre a socertas e dificultando outras mitindo ou impedindo inversões’e financiamentos; pelo manejo dos des contos permite ativar certos ramos comerciais ou sufocá-los; pode mesmo voltar-se contra,certa região, dificultando-Ihe rece certas outras.
pera expansão, enquanto favo-
4(S DicrsTO EroNÓMif.)
Além disso, no mercado internacio nal, o comércio exige divisas e esta.s estão em função das correntes de mercadorias, por um lado, mas, por outro, não poderá haver transações sem que haja meios de pagamento acessíveis; ora, o Estado, pelo conti*ôIc de divisas, concedendo ou negando câmbio, facilita ou dificulta a entrada de^rodutos, selecionando-os bem co mo escolhendo as prodecências. E política monetária passa, assim, serviço da política internacional, fa cilitando alianças ou preparando agressões; basta nos lembrar o ocor rido com os marcos de compensação.
a a uma
No dirigismo a moeda adquire nova e perigosa função: a de instru mento de poder político.
E não se pense que isto ocorre apeinternacionais; nas nas permutas moeda e crédito são instrumentos in dispensáveis ao desenvolvimento da vida econômica; desde qué o Estado as detém e dirige, às empresas e aos indivíduos só resta o recurso de so licitar os favores do governo, ou pelo menos impedir-lhes as iras, obter o instrumento de troca. para em quantidade suficiente.
Daí vermos que em economia di rigida a emissão é monopólio do Es tado, o Banco Central é público e ocupado por pessoal de absoluta con fiança do governo e os bancos de crédito ou se encontram sob severa vigilância ou são mesmo nacionali zados.
Além disso, já que a existência duma garantia material não é sufi ciente para assegurar a estabilidade do valor da moeda, e que a mesma será mais ou menos estável conforme a confiança que os /jidadãos deposi tam no Estado (notando-se que tais
governos sào sempre otimistas e com placentes a seu próprio respeito), a moeda torna-se inteiramente fiduciária e, aos poucos, desaparece a preo cupação de se manter um lastro para a emissão.
A obsei*vação dos fatos, porém, nos tem mostrado a impossibilidade de manutenção da intervenção indireta, pela moeda dirigida; ela conduz à intervenção econômica, “tout court”, pois que tal é o papel da moeda nas economias, e de tal maneira reagem homens e grupos a esta opi^essã^ do Estado, procurando todos os meios possíveis de evasão, que, para contêlos, vê-se 0 mesmo obrigado a esten der as malhas da intervenção para colher os infratores. E, com tudo isto, destrói-se, gradativamente, o sistema'econômico liberal.
Isto mesmo perceberam os socia listas, principalmente Proudhon e Marx, quando procuraram, pela moe da, atingir o capital.
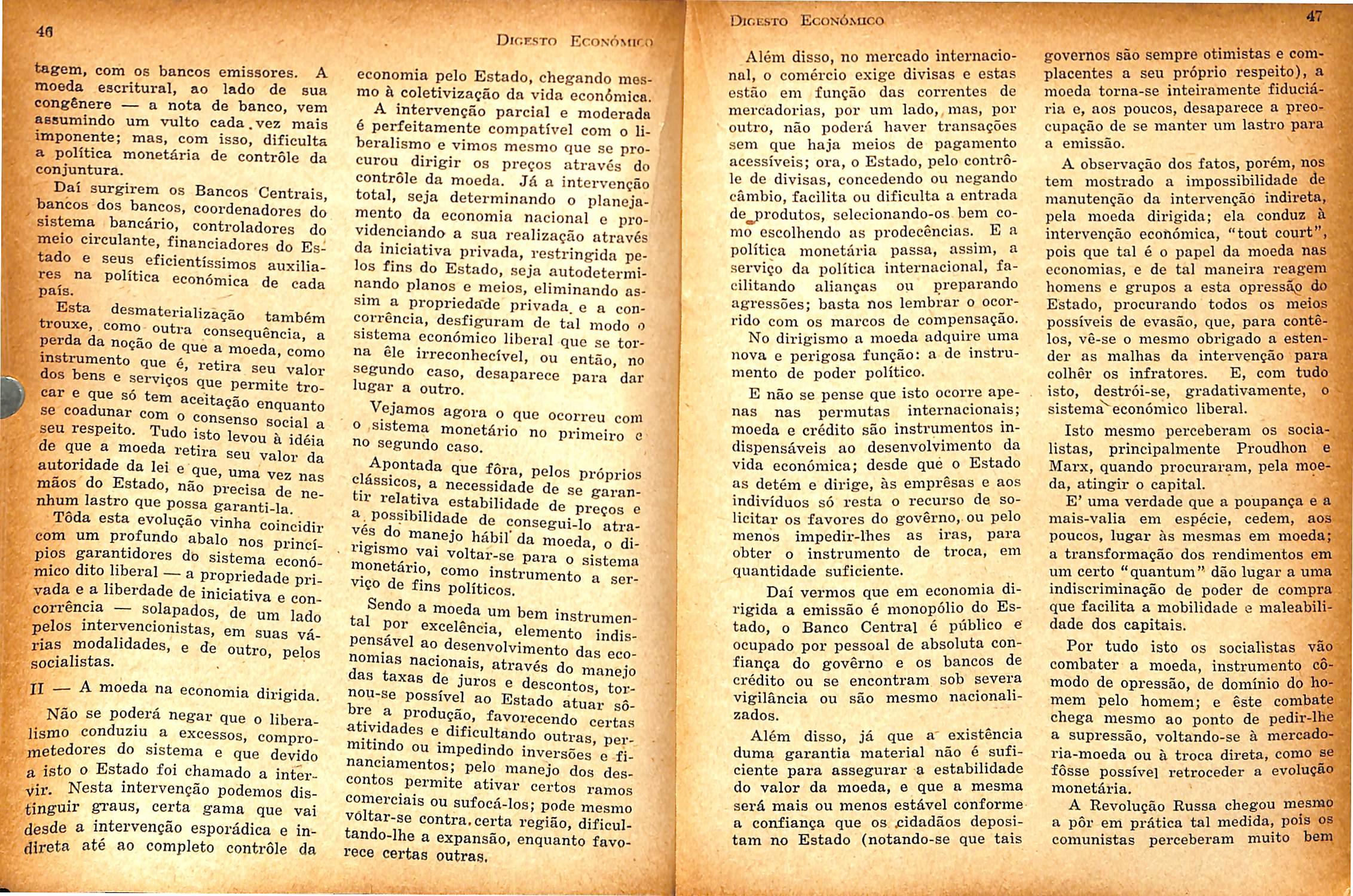
E’ uma verdade que a poupança e a mais-valia em espécie, cedem, aos poucos, lugar às mesmas em moeda; a transformação dos rendimentos em um certo “quantum” dão lugar a uma indiscriminação de poder de compra que facilita a mobilidade e maleabili dade dos capitais.
Por tudo isto os socialistas vão combater a moeda, instrumento cô modo de opressão, de domínio do ho mem pelo homem; e êste combate chega mesmo ao ponto de pedir-lhe a supressão, voltando-se à mercadoria-moeda ou à troca direta, como se fôsse possível retroceder a evolução monetária.
A Revolução Russa chegou mesmo a pôr em prática tal medida, pois os comunistas perceberam muito bem
47 Djfii;í.TO Econômico
que com ela davam um poderoso gol pe de morte no capitalismo, fazendo desaparecer de chofre, com o capital monetário, a classe dos capitalistas. Tiveram de retornar à moeda, é ver dade, mas, já haviam então conse guido alcançar seu objetivo.
Em conclusão: Pela análise da moeda na econo mia liberal e na economia dirigida concluímos que:
1) A moeda reflete o sistema eco nômico, dentro do qual funciona como instrumento de trocas;
2) Que há dificuldade, se não impos sibilidade de dirigir a economia, unicamente através da moeda, j pois tal atitude pressupõe a acei- ' taçãü da validade da teoria quan- ! titativa do valor da moeda, quan do esta é apenas parcialmente verdadeira.
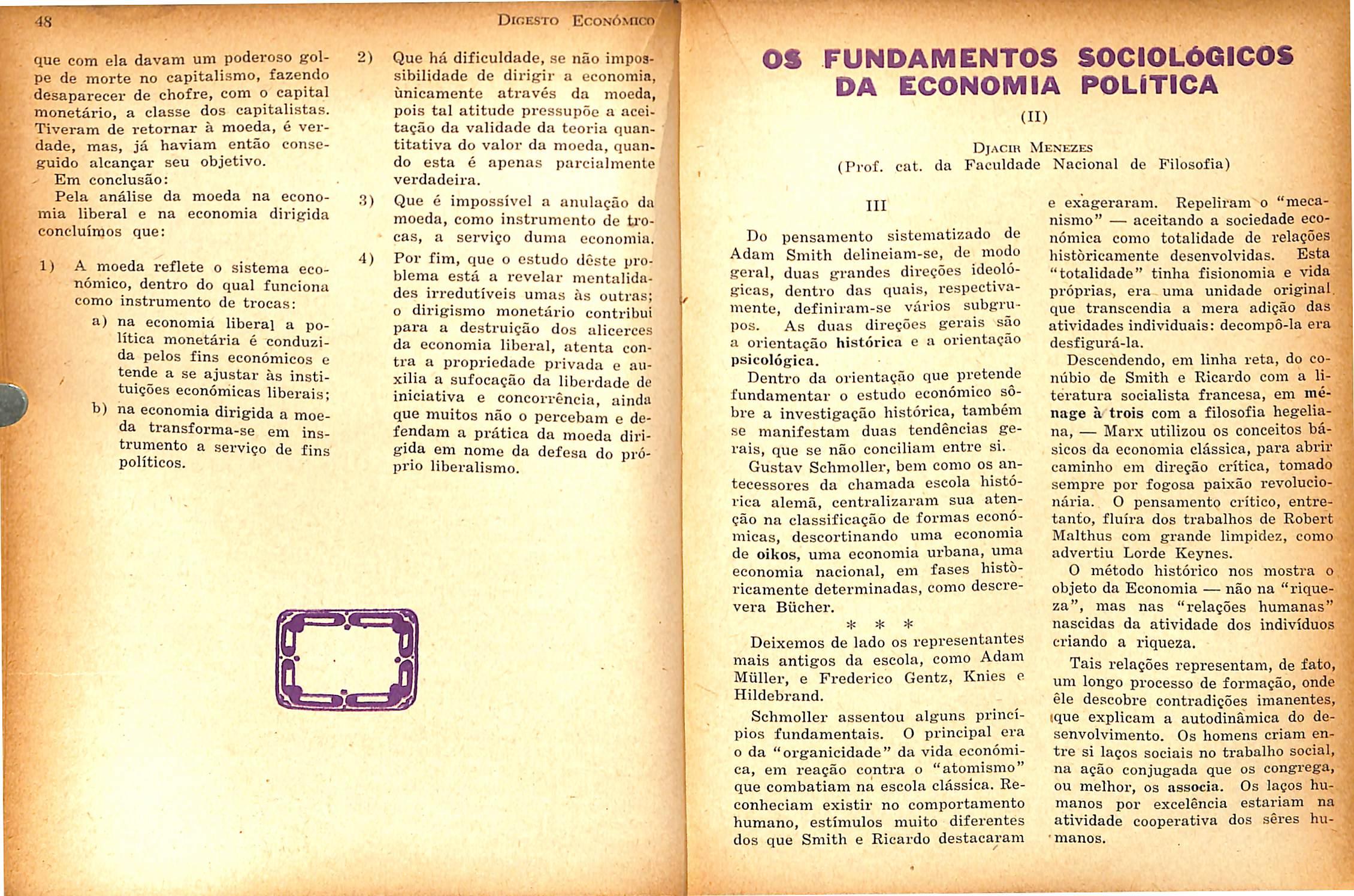
3) 4)
Ia) na economia liberal lítica monetária é conduzi da pelos fins econômicos e tende a se ajustar às insti tuições econômicas liberais; b) na economia dirigida a moe da transforma-se em ins trumento a serviço de fins políticos.
a po-
Que é impossível a anulação da moeda, como instrumento de ti'0cas, a serviço duma economia. Por fim, que o estudo dôste blema está a revelar mentalidades irredutíveis umas às outras; o dirigismo monetário contribui para a destruição dos alicerces da economia liberal, atenta tra a propriedade privada xilia a sufocação da liberdade de iniciativa e concorrência, ainda que muitos não o percebam e de fendam a prática da moeda diri gida em nome da defesa do prio liberalismo.
procone aupro-
Dioesto Econômico a 48
.->
SOCIOLÓGICOS DA ECONOMIA POLÍTICA
(H)
DjAcm Menezes (Prof. cat. da Faculdade Nacional de Filosofia)
III
Do pensamento sistematizado do Adam Smith delineiam-se, de modo geral, duas grandes direções ideoló gicas, dentro das quais, respectiva mente, definiram-se pos. vários subgruAs duas direções gerais a orientação histórica e a orientação psicológica.
Dentro da orientação que pretende fundamentar o estudo econômico so bre a investigação histórica, também se manifestam duas tendências geconciliam entre si.
sao rais, que se não Gustav Schmoller, bem como os an tecessores da chamada escola histó rica alemã, centralizaram sua aten ção na classificação de formas econô micas, descortinando uma economia de oikos, uma economia urbana, uma economia nacional, em fases histo ricamente determinadas, como descre¬ vera Bücher. ♦ *
Deixemos de lado os representantes mais antigos da escola, como Adam Müller, e Frederico Gentz, Knies e Hildebrand.
Schmoller assentou alguns princí pios fundamentais. O principal era o da “organícidade” da vida econômi ca, em reação contra o “atomismo” que combatiam na escola clássica. Re conheciam existir no comportamento humano, estímulos muito difei*entes dos que Smith e Ricardo destacaram
e exageraram. Repeliram o “meca nismo” — aceitando a sociedade eco nômica como totalidade de relações historicamente desenvolvidas, “totalidade” tinha fisionomia e vida pi*óprias, era uma unidade original, que transcendia a mera adição das atividades individuais: decompô-la era desfigurá-la.
Esta
Descendendo, em linha reta, do conúbio de Smith e Ricardo com a li teratura socialista francesa, em inénage à trois com a filosofia hegeliana, — Marx utilizou os conceitos bá sicos da economia clássica, para abrir caminho em direção crítica, tomado sempre por fogosa paixão revolucio nária. O pensamento critico, entre tanto, fluira dos trabalhos de Robert Malthus com grande limpidez, como advertiu Lorde Keynes.
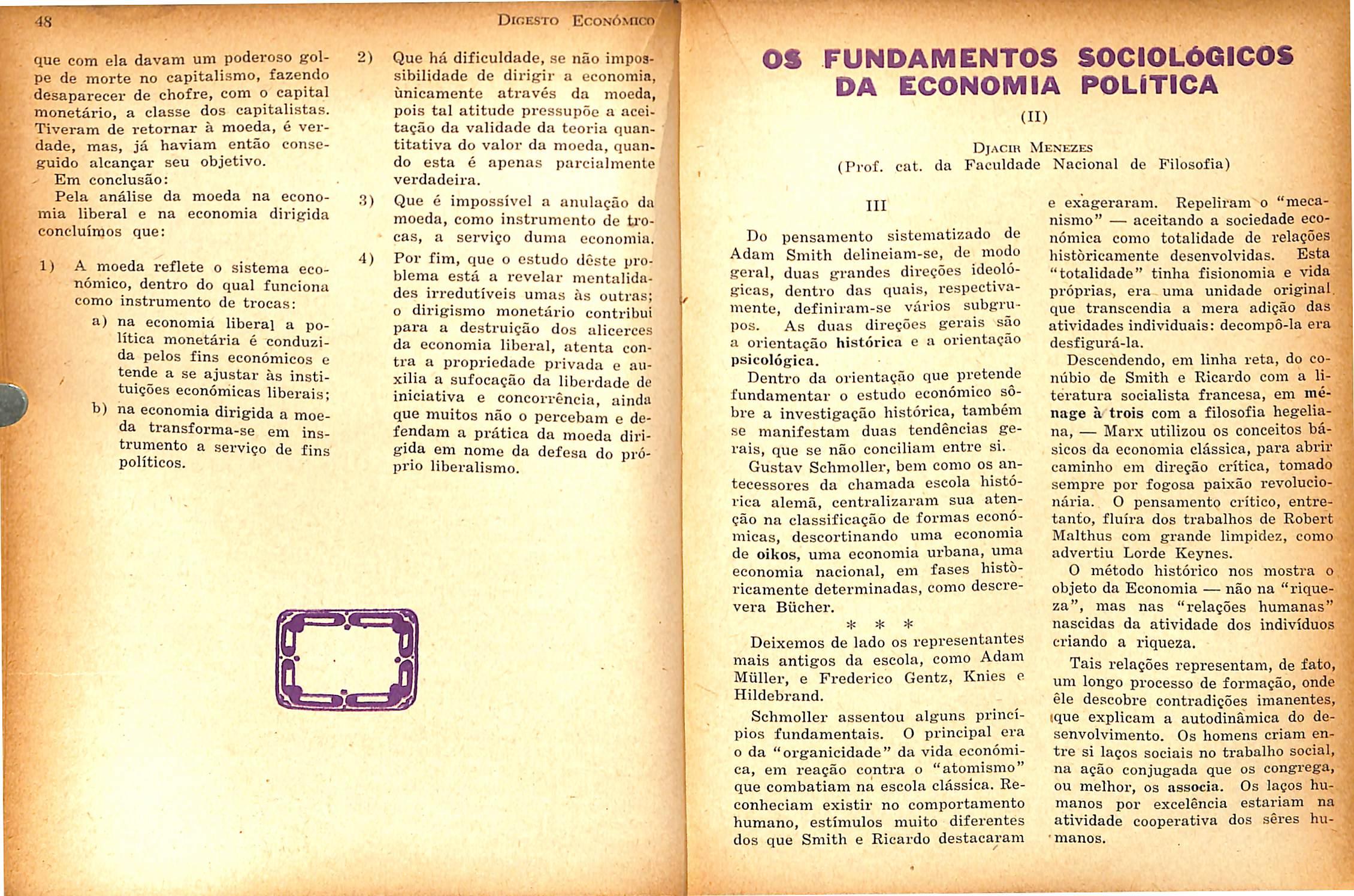
O método histórico nos mostra o objeto da Economia — não na “rique za”, mas nas “relações humanas” nascidas da atividade dos indivíduos criando a riqueza.
Tais relações representam, de fato, um longo processo de formação, onde êle descobre contradições imanentes, ique explicam a autodinâmica do de senvolvimento. Os homens criam en tre si laços sociais no trabalho social, na ação conjugada que os congrega, ou melhor, os associa. Os laços hu manos por excelência estariam na atividade cooperativa dos sêres hu'manos.
os FUNDAMENTOS
As relações, que se formam entre os indivíduos, coordenando-os, subordinando-os, se fazem através dos bens, que se vos bens: coisas e relações materiais entre ho mens”. Marx, porém, tinha objetivos políticos — e todo seu pensamento gravitava, deformando-se, para o plano de uma política larvada de messianismo.
empregam na criação de nosão relações sociais, entre o primeiro Êste renuapensa ao ro-
Nu sua mão, a Economia torna-se uma picareta tremenda de demolição e construção. Essa Economia heré tica, de que êle seria o pontifex maximus, teria, no passado, antepassado em Malthus. cusara certas afirmações de Ricardo, manifestando aquela intuição fina, que Lorde Keynes havia de reconhe cer e proclamar um século depois. Marx não tolerava Malthus. Che gou a insultá-lo, furibundo, chaman do-o de plagiário sem-vergonha, ma notazinha colérica dapé da página no i.o volume do Das Kapital.
se a perspectiva, porque so encara a atividade econômica de outro p<»nto de vista. Já não estamos mais no tempo em que o mercador gerara o industrial e Smith lavrava a “carta de cidadania” do comerciante.
O esquematismo p.sicológico entra em cena: o homo oeconomiciis, o Robínson Crusoe das equações de ofelimidade, tem seus mandamentos nas “leis” de Gossen. As trocas expri mem relações lógico-psiçológicas, que denotam o elevado grau da teorização econômica.

Ao contemplar a complexidade da vida econômica, os fenômenos à tona social, visíveis nos mercados eram os preços, a oferta e a procura, o mecanismo de ajustamento. E com êles, apai-eciam as dramatis personae do teatro econômico. Tal problema se torna, inevitavelmente, o eixo da Ciência Econômica.
Os clássicos, Roll, êsses problemas ainda na madruga da do capitalismo industrial. E de-
porem, como nota começaram a refletir sobre IV pararam questões propedêuticas para construção do sistema, que lhes insi nuavam no espírito uma visão por vezes mais profunda dos móveis do “sistema — e marchavam
Passemos à direção psicológica. Não houve dúvida de que o classicismo prestou atenção primordial à produção, à oferta, ao custo. , sem sen tir, para enquadrar o fato econômico dentro de sua estrutura social e polí tica. Não começavam o estudo com a troca, mas com a produção, como ponto de partida.
com Os começam a consu— pa-
Nas obras de Jevons, Menger e Walras, começa-se a perceber, o progresso dos métodos dedutivos e maior aplicação da matemática, certa Unha de evolução que nos afas ta gradativamente da História. conceito.s fundamentais ser revisados à luz dos princípios da circulação — da procura, do mo, de princípios de utilidade,
Antepunha-se-lhes, assim, o exame das próprias forças subterrâneas que faziam surgir, à tona dos mercados, os fenômenos indicados.
A teoria clássica discernia as clas ses interessadas històrleamente no processo produtivo. As teorias psi cológicas, atomizando o mundo eeoexplicar, psicologicamente, o com portamento do consumidor. Altera¬ ra
Dir.ESTO Economuo 50
ideológico.
nómico em homines oeconomici, per deram a base positiva e a intuição concreta dos problemas. Abandona vam os fatos da terra pelo céu das abstrações. A Economia, sancionando como perfeição última, a sociedade de trocas, onde se obtém a ofelimidade máxima dos fatores de produção, redundou na suprema apologética do liberalismo econômico. E logo que o liberalismo econômico começou a ser contrariado pela evolução — ficou desnorteada, sem pólo guerreada por todas as facções do so cialismo.
A teoria econômica ameaçava tornar-se tão abstrata quanto uma geometria so cial.
Ignorando o de senvolvimento histó rico da própria so ciedade, criava um objeto d e estudo abstrato, que não lhe impunha tarefas cabulosas — e dispen sariam de ver o meio social e suas inquietações.
O economista estêve assim dispen sado de considerar . diretamente as mazelas da ordem social. Seu reino não era o dêsse mundo.
Essa base teórica fôra constituída a partir dos meados do século XVIII — quando Gossen se propõe e a ana lisar as “leis” do comércio humano — Enturcklung der Gesetz des menschlichen Verkekrs und der daraus fliesenden Regeln fur menschliches Handeln (1854).

Seguem-se-lhe os três teóricos da
_. Jevons, Walras^ "atomística” ™ 14 “teorizaçào pura e Menger. de abordar o problema se resume em ver 08 dois pólos de atividade eco nómica: as necessidades e os meios de atendê-las. A escassez dos meios ;
A forma satisfação
— a raridade — em frente às n^es-^ sidades determina o valor dos econômicos. Cada ato concreto e intensida-i
, dada a diversa ^ de dos desejos — expressão psico-; lógica das necessidades — leva à escalonação valorativa dos bens, formando-^ espírito abs-^ se no trato dêsse abstrato oeconomícus -j|| gradiente ”,_j ordem valora-_
homo u m U uma tiva de preferências.^’ psicologia
” é uma Essa " econômica base . às suas generaliza-i ções para explicação dos preços no cado.
indispensável merNão se efe-
tuam as trocas pelas ● utilidades totais que ^ as coisas oferecem,' mas segundo os ‘‘graus finais de utilidade”, (Jevons) ou segundo a “utilidade marginal” — limite, doses limites — que apresentem. “Sempre que A valoriza mais uma unidade do bem X e B, uma unidade de Y, será possível a troca” — i;esume Menger. 0 equilíbrio far-se-á quando o valor subjetivo que as doses respectivas ofereçam comece a nivelar-se.
Dessa análise deriva uma conclu-^ parece de grande impor-
sao que nos tância: o abandono do ponto de vista
Dicesto EcoNÓNnco I ^ 51 4 '} S' I*’ ●
■'íi V
^
i; 1 ●* 71
causal-genético do valor, que preoÍ cupara os clássicos. Que produz o va lor? Por que as coisas tem valor? Que mede o valor?
Em tomo de tais perguntas, a tra dição ricardiana gastou alentadas páI ginas de alentados livros. Procura“ ram-se as forças criadoras das uti● lidades, numa investigação histórica ' encarniçada. Inspiravam-se no méItodo da economia clássica — alongan do, entretanto, como a obra marxista.
Com as análises marginalistas e os “austríacos”, J. M. Clark, Marshall — a teoria formaliza-se: procuram-se interdepen- dencias funcionais, abstrata matizáveis, diluindo-se tórico da

r ramos heterodoxos. s, mateo fundo hispesquisa clássica: não se , observam os fenômenos dentro dos quadros da produção de
sões culturais”. Bastn lembrar como a análise da “família” continua sen do difícil aos sociólogfos. A tese da monoíramia, sustentada por Westermai*ck, é um assunto delicado, as mal dições chovem. Bertrand Russell foi excomungado numa universidade americana, o Estado do Tennessce fulminou um professor que se atre vera a defender Darwin, há duas dé cadas. As iíírejas sociali.stas desfe cham maldições violentas contra os seus herejes.
Mas volvamos ao nosso quesito.
A “teoria”, que prescinde, nos suas proposições universalmente vá lidas, de qualquer ordem social històricamente dada, cunho de teoria científica, no plano das ciências sociais?
não perderá o
/
er orerga e so-
, , , . . , uma socie¬ dade determinada, em determinada ; fase de sua evolução histórica. Nou9 tras palavras, formularam teoria do valor que independe de qualqu ‘ dem social específica: valida omnes e para todos os tempos ciedades. I*
Arguia-se a imposição da imparcialidade altamente científica. mente que 0 perigo desapareceu.
,, Dir-se-á que nao ha uma física aristocrática ou uma química proletária. Em todo caso, a física teve que afirmar algu mas de suas proposições lutando embaraços e anátemas.
biologia sofre restrições de
com Ainda hoje a precon ceitos sociais. Que não dizer das ciên cias que têm por objeto interêsses sociais! os proA objeti- prios
Isentar-se da paixão política, a fim de tratar da pesquisa das lei ser caudatário de um partido s sem não quer dizer que o cientista social dei xe de ver, objetivamente, as paixões, as lutas, — a História.
Há, sem dúvida, um certo descan so de espírito, quando nos afastamos do chão trepidante da política devemos precavei’-nos da abstração e da indiferença pela História, que é a experiência concreta das coisas humanas. I1 ÍL: .-Kj
Dihksiíí Econümkh L 52 K
Aparentando isenção ou objetivi dade, ela corresponde também a uiní^ abstenção, a um alheamento dos pro blemas cruciais da hoi’a que vivemos. Êsses “teoristas cia, o que os ‘ puros” são, na Ciénartistas puros” são
na Estética: advogam a “arte pela arte . Às vêzes procedem como o avestruz: escondem a cabeça, deixam de ver o perigo e concluem ingênua
mas vidade nos assuntos sociais é condi cionada pelo instante histórico. Cres cerá, porque as forças históricas o permitirão. Calverton chamou essas componentes coercitivas de “compul-
Ainda outro fato a notar, mais importante.
As teorias que se resumem nas correntes psicológicas em geral, tor nando o jôgo das ofertas e procuras e os pi*eços como fenômenos centi^ais das investigações econômicas chegam a conclusões que, implicitamente, afirmam a solidez da sociedade ba¬ seada nas trocas. Elas representam a quintessência do liberalismo e do regime concorrencial, cujas leis nos se des- ' são elaboradas para que cubra o melhor rendimento do sisteA ofeliniidade má xima dos fatores de produção só po de ser alcançada nesse steeple chuse da competição. Qualquer interferên cia seria perturbação. A pedra guiar — a iniciativa privada. Leis naturais regulariam essas competi ções — e os órgãos de controle, os meios conscientes para regular essas forças em etapa superior de produ ção social, tudo isso, meras tentati vas regressivas de um neomercantilismo que levaria ao fascismo.
Quando três economistas atuais e encontram, há quatro opiniões dizia alguém. A quarta é a de Keynes. Basta lembremos o nome do gran de economista para acentuar o valor e fecundidade do pensamento 'dissi dente.

ma econômico. an-
Èle se filia lateralmente à tradição herética, que tem ancestrais em Malthus, em Douglas, em Silvio Gessell. Keynes compreendeu, dentro das limitações dos ensinamentos clássi cos, os desajustamentos estruturais do mundo econômico. As imperfei ções da ciência econômica estavam, om muitos passos, no papel de justificadora da situação criada pelo ca pitalismo, esquecida de investigar as causas promotoras das irregularida des que geram as misérias, a fim de dar à política os meios de correção, sugerindo-lhe os caminhos das solu ções racionais.
Isso significaria que os mecanismos automáticos de regulação econômica jamais poderíam desaparecer, o sistema econômico perfeito e eterno seria o da competição livre. Que a humanidade poderia aperfeiçoar suas bases; modificá-las ou superálas, nunca. E compreendemos porque essa apologética foi a Economia Po lítica oficial durante as últimas dé cadas.
Que VI
A Ciênica econômica em muitos pensadores, foi uma apologética da Ordem; porém não o é mais. Tende, atualmente, mais para o ponto de vis ta crítico, com as heterodoxias que rompem de tôda a parte.
Guardemo-nos de condenar in limine todos os progressos realizados pelo niarginalismo na elaboração dos instrumentos conceituais exigidos pe la moderna análise econômica. São instrumentos sutis, imprescindíveis para a compreensão da economia mo derna. Permitem plantear com mais agudeza os problemas grosseiros ou toscamente equacionados pelo classicismo ricardiano ou de Mill ou de Marx. Mas o que defendemos aqui é a vinculação dos esquemas, interpretativos às realidades sociais, cujo mecanismo se trata de compreender na sua intimidade. Seus processos são históricos e sem essa base con creta não é possível interpretá-los.
“A tarefa do economista — disse Robbins — é interpretar a realida de”. A tábua mengeriana de valo-
53 Dk;i-:sto Econômico
a escala de preferências, se torna, vista por êsse ângulo, numa geometria abstrata de equilíbrios abstratos — desde que nos forne cem meios de
res, nao açao e compreensão
aprofundada do sistema econômico neste período de seu desenvolvimento. Convem distinguir aquelas estinaturas_ psicológicas” para explicar os fenomenos econômicos, de ordem ló gica, do antigo hedonismo psicológicTnítiT a‘‘ a ser me¬ ro capitulo da psicologia. O que se procura articular, naqueles -Isquematismos” são conexões entre es«r^itiSo humanas, peimitmdo exprimir relações apreen siveis na realidade social Distingue-se ato psíquico daquele conceito distingue o ato
entre a Ciência e os interesse Se as descobertas nicos das e progre s sociais. ssos técciências físico-naturais constituem hoje uma fôrça tão granae que modificará as estruturas e organizaçao da vida as.sociativa, as ciências do homem e das suas re lações estão, anteriores. mais que as disciplinas em cheque gravíssimo
.
1 orque avulta a necessidade de inves tigar a verdade contra a conspiração dos proprios interesses herdados das épocas anteriores, surgindo cientistas, responsabilidad das: as de não cederem r
como
^ valorização, concreto, no momento, valorativo, como se psicológico de
sar” a entidade “objetividade” ideal, tos interessariam à os conceitos, a lógica
. . Pentnangulo", de sua Os atos psicologia,
concremas generaexperiêncom fatos os “dados” lingua0 pare-
Se tais bases pertencem à nossa experiencia interna, são subjetivas, ISSO nao impede que se revelem, por seu conteúdo objetivo, por sua fide lidade no traduzir melhor as relações estudadas, e e nesse fato que está a sançao definitiva daquelas lizações. E', portanto, da cia oriunda pelo contacto externos que colhemos l necessários à elaboração da gem “psicológica”, malgrado cer contrário de .Robbins.
VII
para os es arriscasoes culturais", à coactividade nas cida dos preconceitos, dos formalismos, mantidos apenas pelas minorias oeneficianas nelas
as entrincheiradas.
. A organização das funções da Ciên cia num estado industrializado moder no como viu o prof. J. D. Bernal, é desses problemas que reclamam so lução imediata. Não se poderá or ganizar a vida associativrhumana, nessa nova fase de civili.ação, pelos ^smos moldes, padrões e sistêmas constituídos numa época pre-científica.
A transformaçao da burocracia tradicional se reanza agora em função de necessidades coletivas, como evidenciaram interbélicos os anos e os da guerra pa
ssada.
-se
Em 1941, numa conferência de ho mens de ciência mundialmente famo sos, reunidos em Londres, debateu um ponto de soberana importância para tôdas as nações: as relações
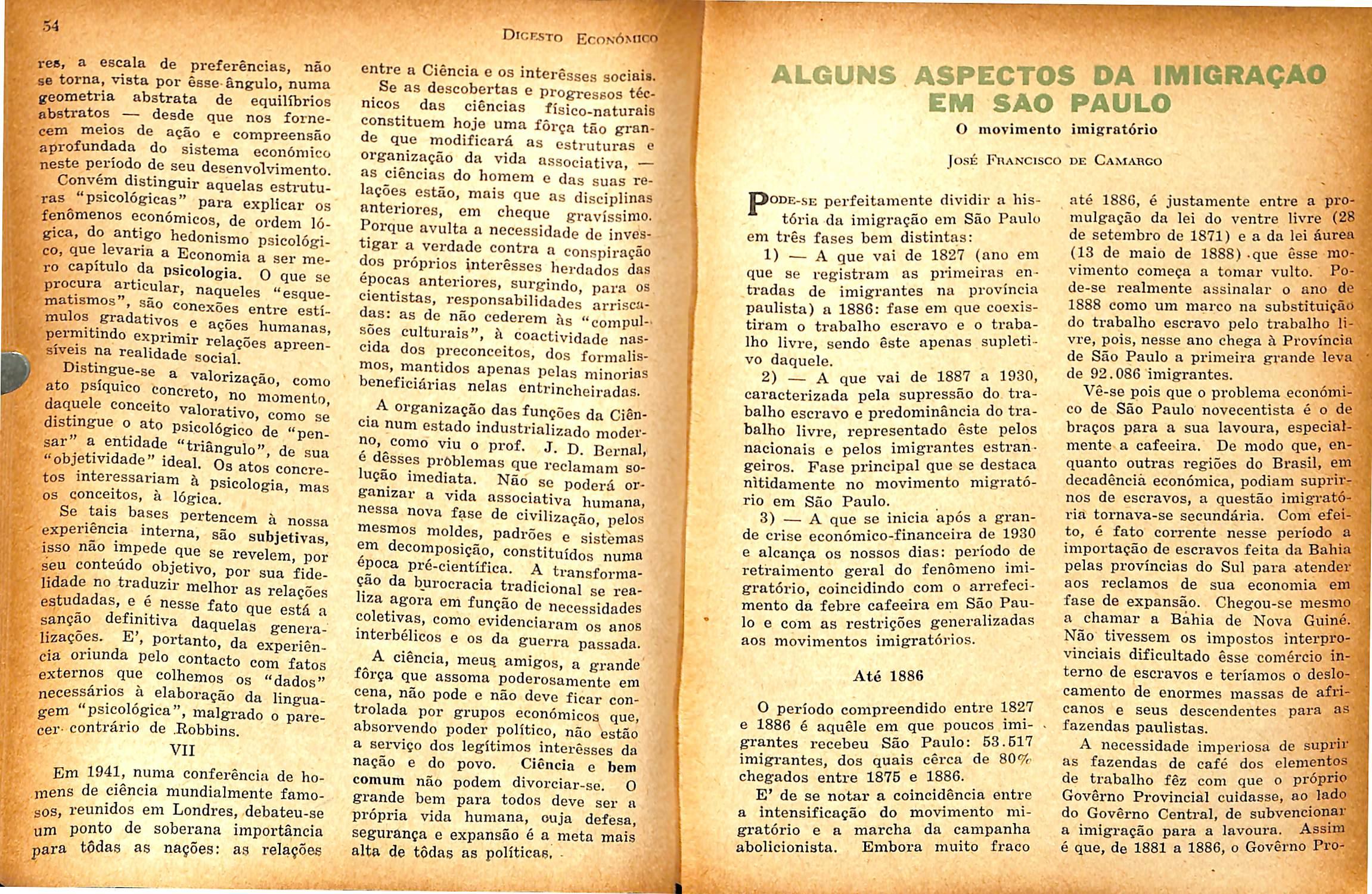
A ciência nieu^ amigos, a grande lorça que assoma poderosamente cena, não pode e não deve ficar con trolada por grupos econômicos que, absoi-vendo poder político, não estão a sei^viço dos legítimos interesses da nação e do povo. Ciência e bem comum não podem divorciar-se. grande bem para todos deve própria vida humana, ouja defesa, segurança e expansão é a meta mais alta de tôdas as políticas,
em O ser a
54 Dicrsto EcoNÓMiro
ALGUNS ASPECTOS DA IMIGRAÇAO^ EM SAO PAULO
O movimento imigratório José I^»ancisco de Camargo
poDE-sE perfeitamente dividix- a his tória da imigração em São Paulo em três fases bem distintas:
1) -— A que vai de 1827 (ano em que se registram as primeiras en tradas de imigrantes na província paulista) a 1886: fase em que coexis tiram o trabalho escravo e o traba lho livre, sendo êste apenas supleti vo daquele.
2) — A que vai de 1887 a 1930, caracterizada pela supressão do tra balho escravo e predominância do tra balho livre, representado êste pelos nacionais e pelos imigrantes estran geiros. Fase principal que se destaca nitidamente no movimento migrató¬ rio em São Paulo.
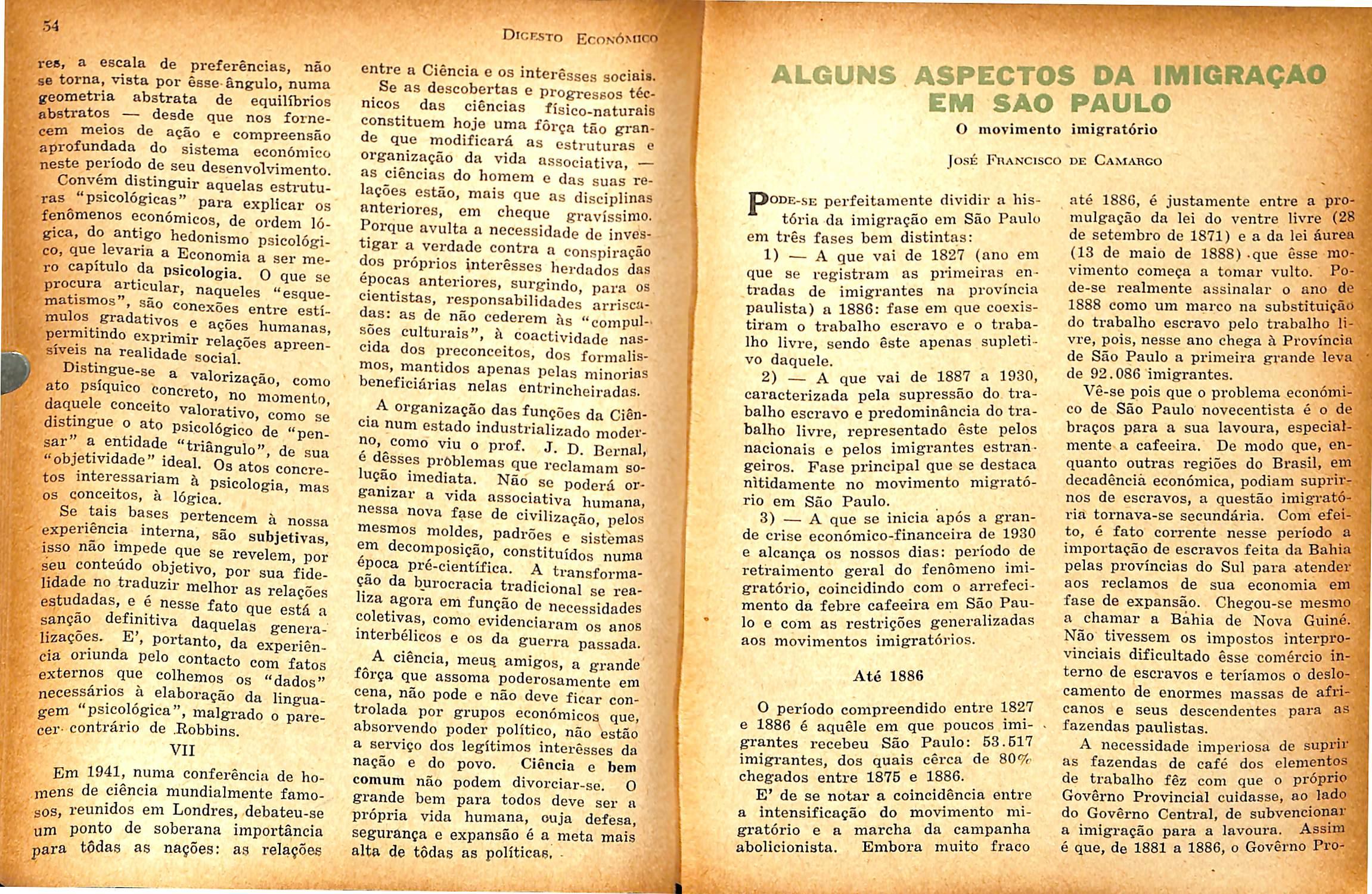
3) — A que se inicia após a gran de crise económico-financeira de 1930 e alcança os nossos dias: período de retraimento geral do fenômeno imi gratório, coincidindo com o arrefeci mento da febre cafeeira em São Pau lo e com as restrições generalizadas aos movimentos imigratórios.
Até 1886
O período compreendido entre 1827 e 1886 é aquele em que poucos imi- ● grantes recebeu São Paulo: 63.617 imigrantes, dos quais cêrca de 80% chegados entre 1876 e 1886.
E’ de se notar a coincidência entre a intensificação do movimento mi gratório e a marcha da campanha abolicionista. Embora muito fraco
até 1886, é justamente entre a pro mulgação da lei do ventre livre (28 de setembro de 1871) e a da lei áurea (13 de maio de 1888) -que êsse nio vimento começa a tomar vulto. Po de-se realmonte assinalar o ano do 1888 como um marco na substituição do trabalho escravo pelo trabalho li vre, pois, nesse ano chega à Província de São Paulo a primeira grande leva de 92.086 imigrantes.
Vê-se pois que o problema económi-^ CO de São Paulo novecentista é o de braços para a sua lavoura, especial-, mente a cafeeira. De modo que, en-' quanto outras regiões do Brasil, em decadência econômica, podiam suprir-j nos de escravos, a questão imigrató ria toi*nava-se secundária. Com efei-j to, é fato corrente nesse período a importação de escravos feita da Bahia pelas províncias do Sul para atender’ aos reclamos de sua economia em fase de expansão. Chegou-se mesmo a chamar a Bahia de Nova Guiné.’ Não tivessem os impostos interpro-! vinciais dificultado êsse comércio in-j terno de escravos e teríamos o deslo camento de enormes massas de afri-i e seus descendentes para fazendas paulistas.
canos as Assim
A necessidade imperiosa de suprir as fazendas de café dos elementos de trabalho fêz com que o próprio Governo Provincial cuidasse, ao lado do Govêxmo Central, de subvencionar a imigração para a lavoura, é que, de 1881 a 1886, o Governo Pro-‘
\ :
^ vincial de São Paulo despendeu '● a imigração, respectivamente: ^ 45:848$476, 67:600$123, 110:28l$906, f. 374:287$670, 365:862$209 e ' 1.132;394$691. Correspondendo a esse * esforço oficial, chegariam à Provincia paulista, entre 1882 e 1886, cêrca t de 30 mil imigrantes subvencionado.s ; Por muito tempo os italianos tcriam a primazia na composição dessa I corrente imigratória que se dirigia r para São Paulo, vindo, em segundo lugar, os portugueses. Mais da me tade daqueles 9.536 imigrantes sub vencionados, entrados , tituía-se de italianos
com em 1886, e a quarta conspar Não se pode, de modo geral, com parar a pobreza desses núcleos colo niais em São Paulo dado reinante n prosporinas colônias instaladas com te de portugueses, g. Nesse período, as
em em Moji das Cruzes, em
I pelo Governo Imperial em SaiUa Ca tarina e Rio Grande do Sul, onde pre^ dominam os imigrantes ale mães. E’ que lá não encon travam eles a oposição dos fazendeiros, ciosos dos seus latifúndios e monopolizadores absolutos da mão-de-obra dis ponível.
. - . , correntes imirn-n^nas, tanto as subvencionadas Governo Central pelo como pelo Provinmais aos núcleos oficiais de coloniza; ção. do que aos estabelecim tos agrícolas particulares já organizados e servidos pelo braço escravo. Foi justamen te em São Paulo onde se abriu a luta entre
lítica de desenvolvimento dos núclLs I coloniais, com base na pequena propriedade agrícola e os fazendeiros de ^ café, muito mais interessados em
I-, atrair os imigrantes para voura, à medida o braço escravo.
a sua Ia que se escasseava co-
Mesmo contra a vontade dos fazendeiros, chegaram-se a fundar em São Paulo diversos núcleos oficiais de lonização, entre 1855 e 1889, sendo os principais: Canas, em Lorena, em 1866; Pariquera-assu, em Iguape, em 1861; ‘ Cananéia, em Cananéia, em 1862;
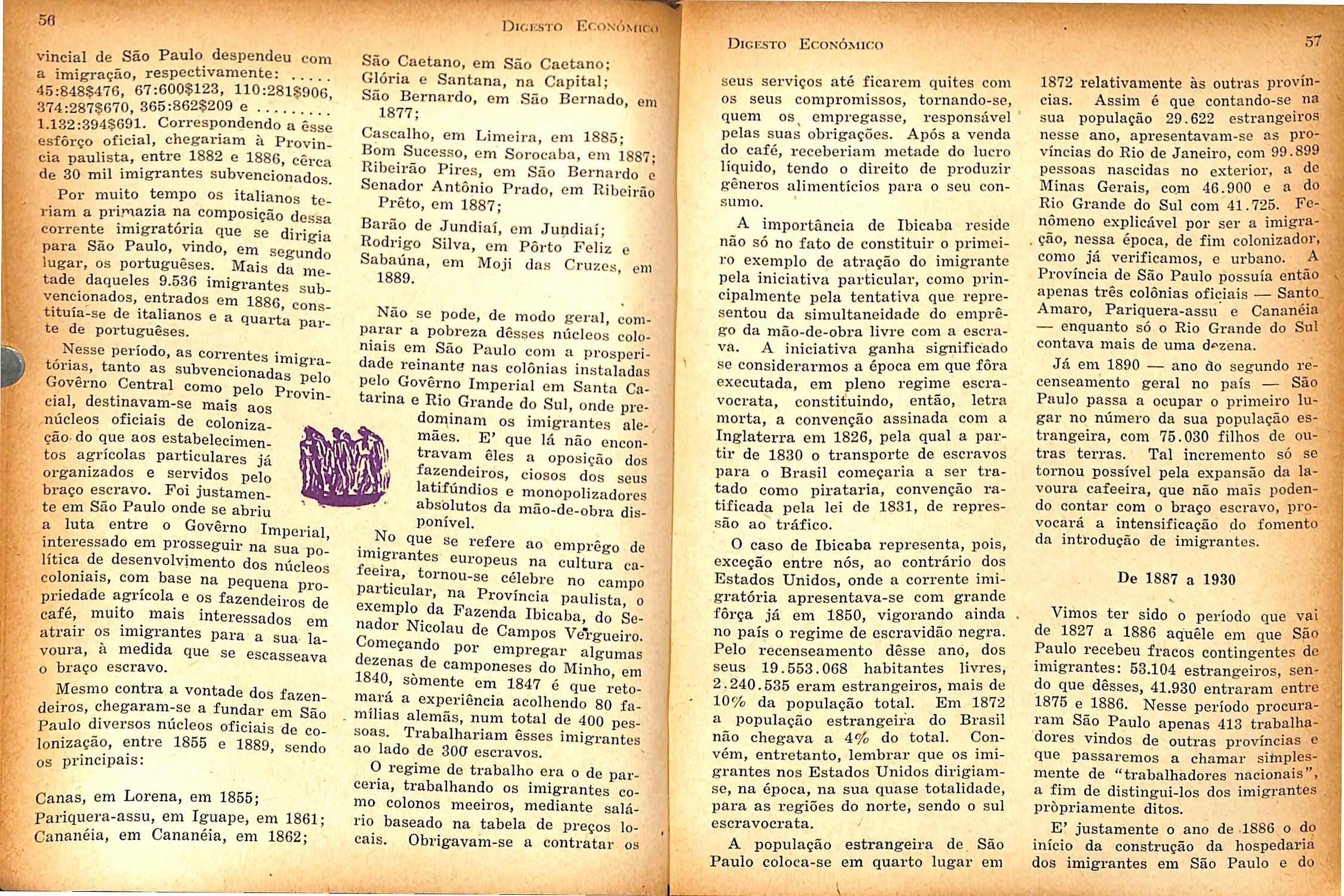
V“ ÈL.
ao imigrantes ca0
por empregar algumas camponeses do Minho,
ciai, destinavam-se / eno Govêrno Imperial, interessado em prosseguir na No que se refere emprego de . europeus na cultura eeira, tornou-se célebre no campo exemn/n'i Província paulista, exemplo da Fazenda Ibicaba, do Sedezenas de 1840, somente
_cm 1847 é que reto mara a experiencia acolhendo 80 fa- mílias alemãs, num total de 400
em J)©S” soas. Trabalhariam esses imigrantes ao lado de 30a escravos.
OlClLSTO
São Caetano, em São Caetano; Glória e Santana, na Capital; São Bernardo, em São Bernado, 1877; Cascalho, em Limeira, cm 1885; Bom Sucesso, em Sorocaba, em 1887; Ribeirão Pires, em São Bernardo e Senador Antônio Prado, em Ribeirão Preto, em 1887; Barão de Jundiaí, em Jundiaí; Rodrigo Silva, em PÔrto Feliz e Sabaúna, 1889. V’ 50
O regime de trabalho era o de par ceria, trabalhando os imigrantes co mo colonos meeiros, mediante salái‘io baseado na tabela de preços lo Obrigavam-se a contratar os cais.
seus serviços até ficarem quites com os seus compromissos, tornando-se, quem os ^ empregasse, responsável pelas suas obrigações. Após a venda do café, i*eceberiam metade do lucro líquido, tendo o direito de produzir gêneros alimentícios para o seu con sumo.
A importância de Ibicaba reside não só no fato de constituir o primei ro exemplo de atração do imigrante pela iniciativa particular, como prin cipalmente pela tentativa que repre sentou da simultaneidade do empre go da mão-de-obra livre com a escra va. A iniciativa ganha significado se considerarmos a época em que fôra executada, em pleno regime escra vocrata, constituindo, então, letra morta, a convenção assinada com a Inglaterra em 1826, pela qual a par tir de 1830 o transporte de escravos para o Brasil começaria a ser tra tado como pirataria, convenção ra tificada pela lei de 1831, de repres são ao tráfico.
1872 relativamente às outras provín cias. Assim é que contando-se na ● sua população 29.622 estrangeiros nesse ano, apresentavam-se as pro víncias do Rio de Janeiro, com 99.899 pessoas nascidas no exterior, a dc Minas Gerais, co.m 46.900 e a do Rio Grande do Sul com 41.725. Fe nômeno explicável por ser a imigra. çâo, nessa época, de fim colonizador, como já verificamos, e urbano. A Província de São Paulo possuía então v apenas três colônias oficiais — Santo. Amaro, Pariquera-assu e Cananéia — enquanto só o Rio Grande do Sul contava mais de uma d<'zena.
Já em 1890 — ano do segundo recenseamento geral no país — São Paulo passa a ocupar o primeiro lu gar no número da sua população es trangeira, com 75.030 filhos de ou tras terras. Tal incremento só se tornou possível pela expansão da la voura cafeeira, que não mais poden do contar com o braço escravo, pro vocará a intensificação do fomento , da introdução de imigrantes.
De 1887 a 1930
a
O caso de Ibicaba representa, pois, exceção entre nós, ao contrário dos Estados Unidos, onde a corrente imi gratória apresentava-se com grande fôrça já em 1850, vigorando ainda no país o regime de escravidão negra. Pelo recenseamento desse ano, dos seus 19.553.068 habitantes livres, 2.240,535 eram estrangeiros, mais de 10% da população total. Em 1872 população estrangeira do Brasil não chegava a 4% do total. Con vém, entretanto, lembrar que os imi grantes nos Estados Unidos dirigiamse, na época, na sua quase totalidade, para as regiões do norte, sendo o sul escravocrata.
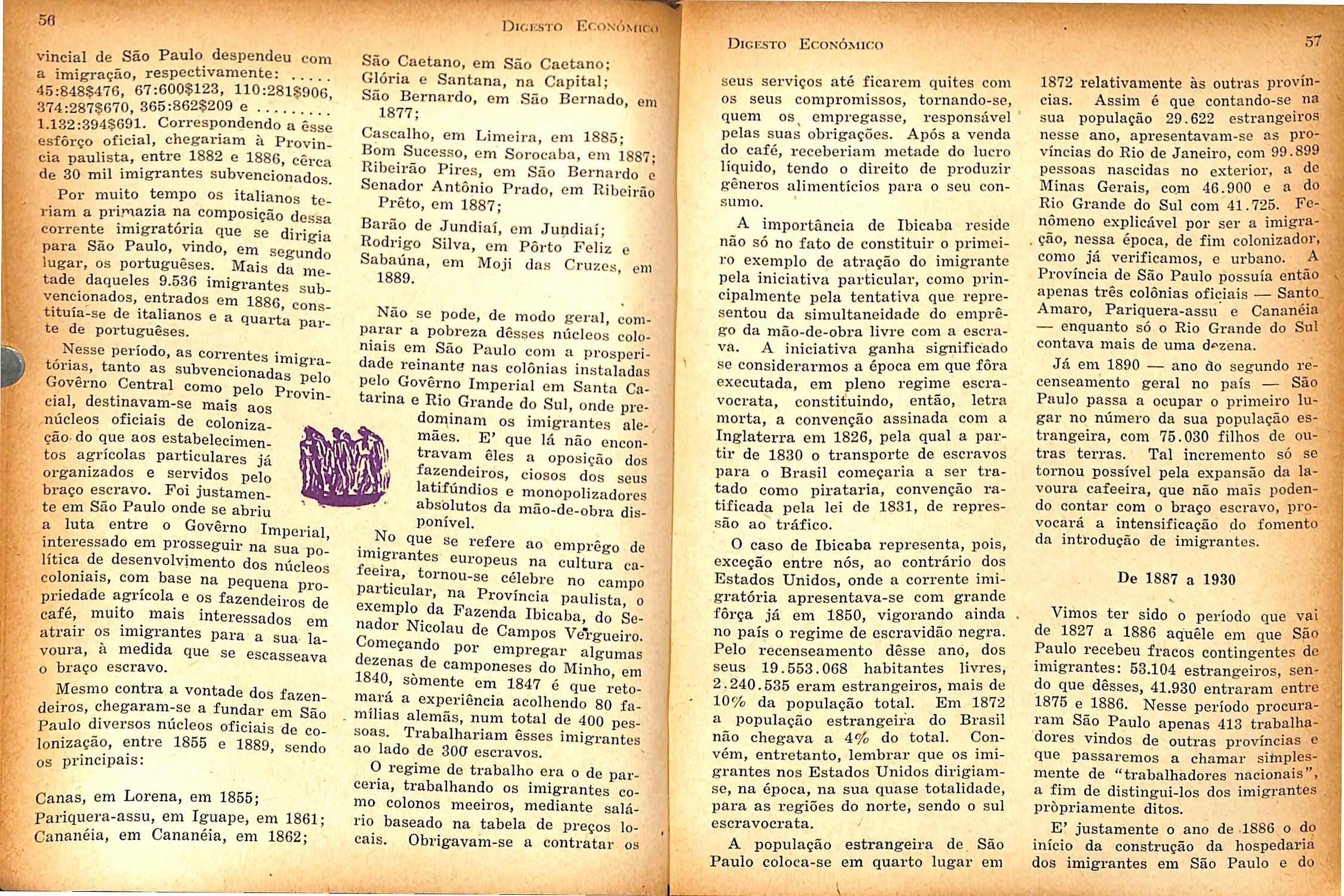
A população estrangeira de São Paulo coloca-se em quarto lugar em
de 1827 a
Vimos ter sido o período que vai 1886 aquêle em que São Paulo recebeu fracos contingentes de imigrantes: 53.104 estrangeiros, sen do que desses, 41.930 entraram entre 1876 e 1886. Nesse período procura ram São Paulo apenas 413 trabalhadoi*es vindos de outras províncias c que passaremos a chamar siftiplesmente de “trabalhadores nacionais", a fim de distingui-los dos imigi*antes propriamente ditos.
E’ justamente o ano de 1886 o do início da construção da hospedaria dos imigi*antes em São Paulo e do
57 Dicesto Económk:o
financiamento do transporte maríti mo dos imigrantes pelo Governo Pro vincial. Tais iniciativas mostram o interesse que o problema imigrató**io apresentai‘á daí em diante. Realmentc, a partir de 1887, tor nando-se cada vez mais escasso e one
¬ roso o braço escravo, começam tomar vulto ás correntes imigratóri para o Estado de São Paulo. Entr riam nesse ano mais de 32.000 estrange.ros, número que ultrapassaria os 92 milhares no ano seguinte. No último decênio do século registrou em 1891 e em 1895 a entrada de maiores contingentes: respectivamon te 108.688 e 139.998 imigrantes. De 1887 a 1900 São Paulo 909.417 imigrantes, aos quais se de^ vem juntar 552 trabalhadores naci^ Se considerarmos que o núme ro de imigrantes entrados de 18S7 a 1930 foi de 2.219.308. o total da quele período (apenas 14
a las a-se nais. anos) i(j
Ipresenta mais de 40% dêsse último número.
Nota-se, então, depois de 1901, \ arrefecimento na intensidade das* ; rentes imigratórias. Em 1901 en tram ainda mais de 70.000 imigran' tes. Êsse número decresce até 19lo para novamente aumentar ató às vés' peras da Grande Guerra:
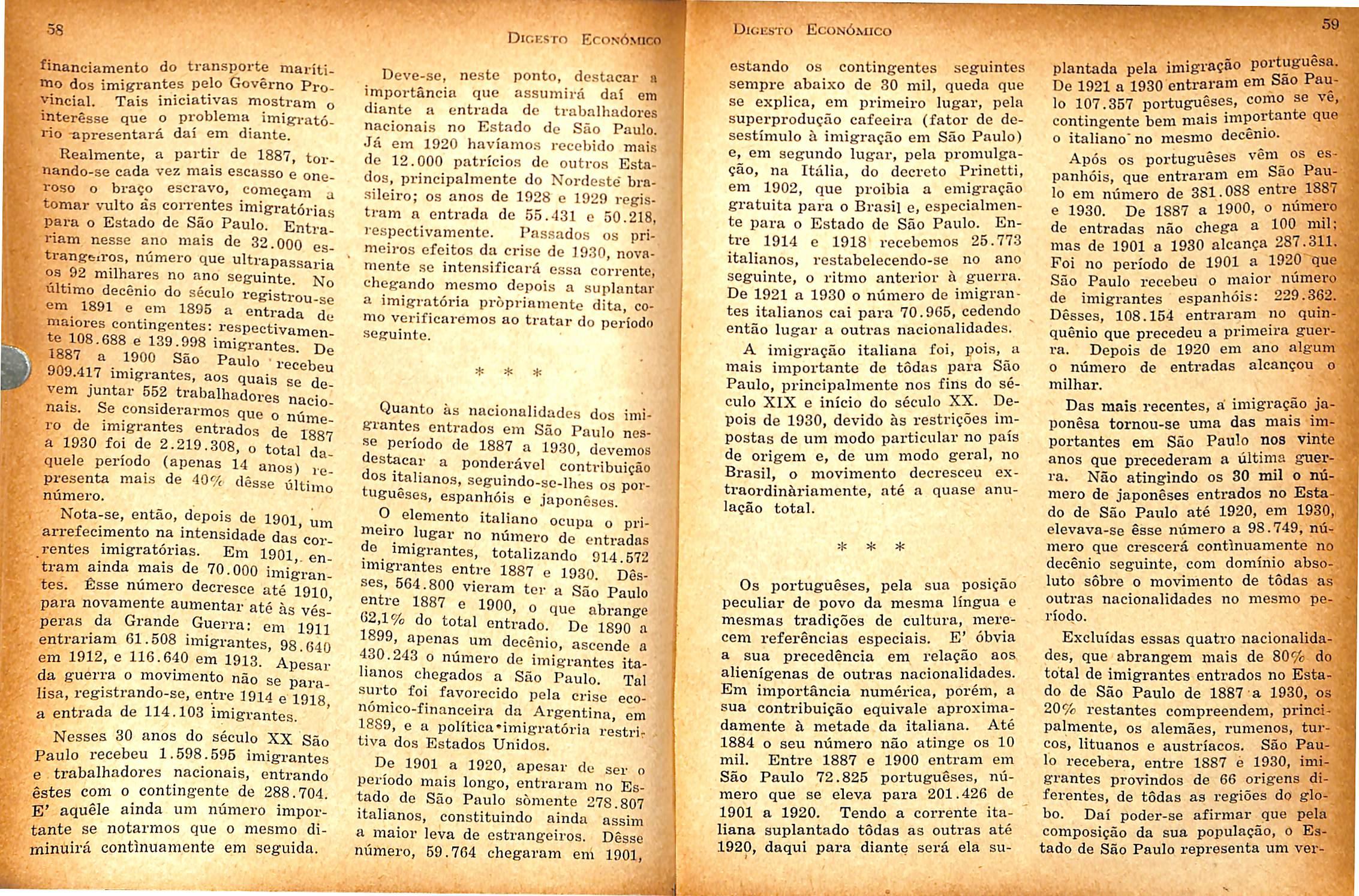
, entrariam 61.508 imigrantes, 98 640 em 1912, e 116.640 em 1913. Apesar da guerra o movimento não se para lisa, registrando-se, entre 1914 e 1018 a entrada de 114.103 imigrantes.
Nesses 30 anos do século XX São Paulo recebeu 1.598.596 imigrantes e trabalhadores nacionais, entrando estes com o contingente de 288.704. E’ aquêle ainda um número impor tante se notarmos que o mesmo di minuirá continuamente em seguida.
n em mais
Pas.sados os prinovamente se intensificará
Deve-se, neste ponto, destacar importância que assumirá daí diante a entrada do trabalhadores nacionais no Estado de São Paulo. Já em 1920 havíamo.s recobi<lo de 12.000 patrícios de outros Esta dos, principalmente do Nordeste' bra sileiro; os anos de 1928 o 1929 regis tram a entrada de 55.-131 o 50.218, respeetivamentc. meiros efeitos da cri.se de 1930 essa corrente
chegando mesmo depois a suplantar a imigratória propriamente dita, mo verificaremos ao tratar do período ●seguinte.
* * *
CO-
03 pors e japoneses.
Quanto às nacionalidades dos imifi:iantes entrados em São Paulo nes se período de 1887 a 1930, devemos destacar a ponderável contribuição aos italianos, seguindo-se-lhes tuguêses, espanhóii O elemento italiano meiro lugar no de imigrantes, totalizando 914 672 imigrantes entre 1887 e 1930 Des ses 564.800 vieram ter a São pL o entre 1887 e 1900, c 62,1% do total entrado 1899, 430.243
a
ocupa o prinúmero de entradas que abrange De 1890 a apenas um decênio, ascende a número de imigrante o
o
na, em restrir
um corem 1911 s ita lianos chegados a São Paulo. Tal surto foi favorecido pela crise económico-financeira da Argenti 1889, e a política*imigratória tiva dos Estados Unidos.
●58 Dioksto EroNÓMiro
De 1901 a 1920, apesar dc , ser o período mais longo, entraram no Es tado de São Paulo somente 278.807 italianos, constituindo ainda assim maior leva de estrangeiros. Dêsse número, 59.764 chegaram em 1901, . _j
cstando os contingentes seguintes sempre abaixo de 30 mil, queda que se explica, em primeiro lugar, pela superprodução cafeeira (fator de de sestimulo à imigração em São Paulo) e, em segundo lugar, pela promulga ção, na Itália, do decreto Prinetti, em 1902, que proibia a emigração gratuita para o Brasil e, especialniente para o Estado de São Paulo. En tre 1914 e 1918 recebemos 25.773 italianos, restabelecendo-se no ano seguinte, o ritmo anterior à guerra. De 1921 a 1930 o número de imigran tes italianos cai para 70.965, cedendo então lugar a outras nacionalidades.
A imigração italiana foi, pois, a mais importante de todas para São Paulo, principalmente nos fins do sé culo XIX e início do século XX. De pois de 1930, devido às restrições im postas de um modo particular no país de origem e, de um modo geral, no Brasil, o movimento decresceu extraordinàriamente, até a quase anu lação total.
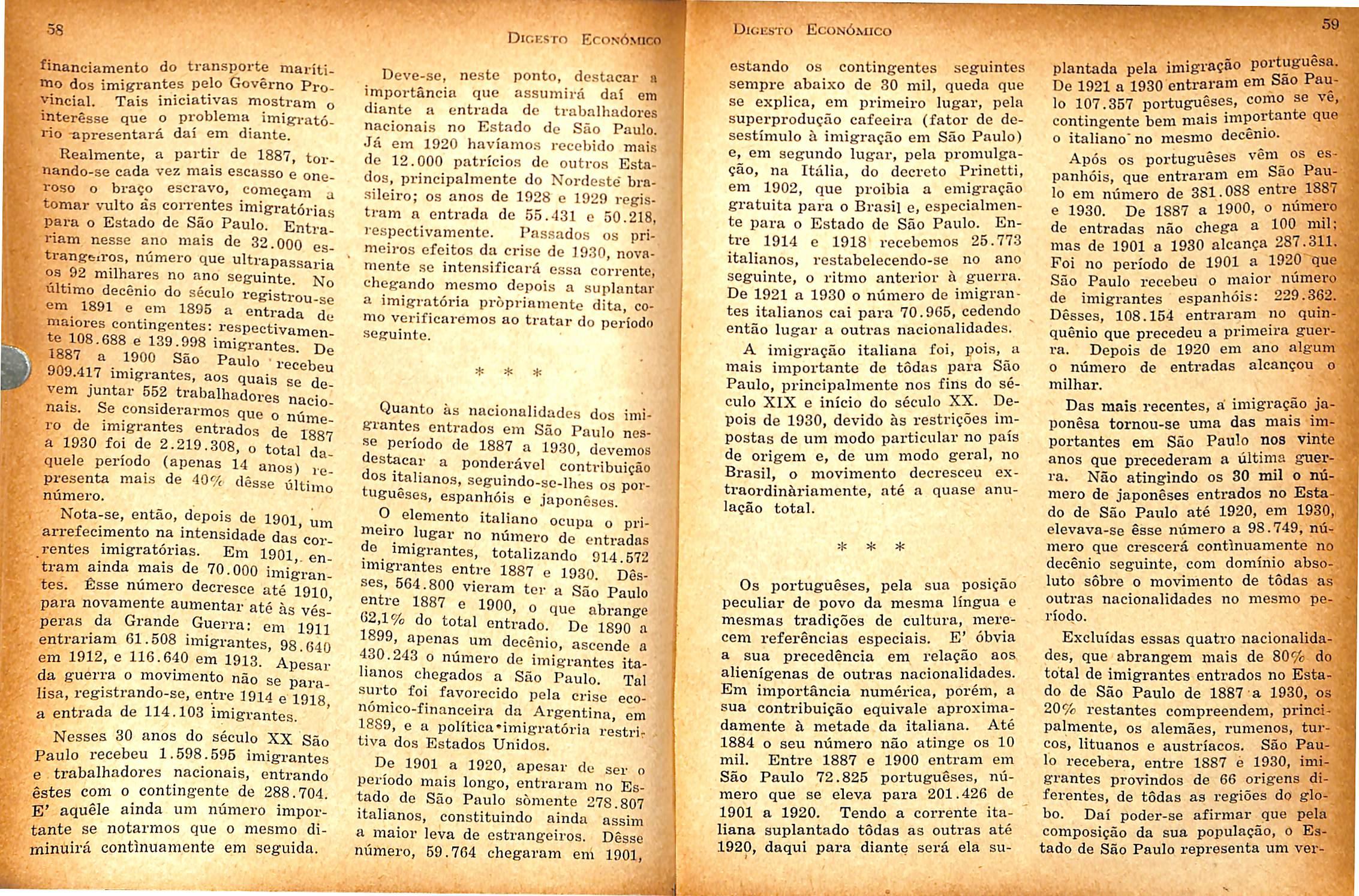
plantada pela imigração portugi^sa. em Sao Pau- De 1921 a 1930 entraram
lo 107.357 portugueses, como se ve, contingente bem mais importante que o italiano' no mesmo decênio.
vêm os esSão PauApós os portuguêses panhóis, que entraram em io em número de 381.088 entre 188 < e 1930. De 1887 a 1900, o número de entradas não chega a 100 mil: mas de 1901 a 1930 alcança 287.311.
Foi no período de 1901 a 1920 que São Paulo recebeu o maior número de imigrantes espanhóis: Dêsses, 108.154 entraram no quin quênio que precedeu a primeira guer ra. Depois de 1920 em ano algum o número de entradas alcançou o
229.362. milhar.
*
Os portuguêses, pela sua posição peculiar de povo da mesma língua e mesmas tradições de cultura, mere cem referências especiais, a sua precedência em relação aos alienígenas de outras nacionalidades. Em importância numérica, porém, a sua contribuição equivale aproxima damente à metade da italiana. Até 1884 o seu número não atinge os 10 mil. Entre 1887 e 1900 entram em São Paulo 72.825 portuguêses, nú mero que se eleva para 201.426 de 1901 a 1920. Tendo a corrente ita liana suplantado tôdas as outras até 1920, daqui para diante será ela su-
Das mais recentes, a imigração ja ponesa tornou-se uma das mais im portantes em São Paulo nos vinte anos que precederam a última guer ra. Não atingindo os 30 mil o nú mero de japoneses entrados no Esta do de São Paulo até 1920, em 1930, elevava-se esse número a 98.749, nú mero que crescerá continuamente no decênio seguinte, com domínio abso luto sobre o movimento de tôdas as outras nacionalidades no mesmo pe ríodo.
E’ óbvia
Excluídas essas quatro nacionalida des, que abrangem mais de 80% do total de imigrantes entrados no Esta do de São Paulo de 1887 a 1930, os 20% restantes compreendem, princi palmente, os alemães, rumenos, tui-cos, lituanos e austríacos. São Pau lo recebera, entre 1887 è 1930, imi grantes provindos de 66 origens di ferentes, de tôdas as regiões do glo bo. Daí poder-se afirmar que pela composição da sua população, o Es tado de São Paulo representa um ver-
59 UioiisTo Econômico
dadoiro cadinho em que sc fundem que é mais importante, as culturas mais diversas e peculiares.
w raças e sub-raças e, o :. t r
Ao concluirmos êste artigo sôbre a importância quantitativa da imi gração no Estado de São Paulo, até 1930, comparemos o caso paulista com o restante do país.
Dos 628.449 imigrantes entrados no Brasil até 1886, somente 8,5% di\ rigiram-se à Província de São Paulo. Ja no segundo período, de 1887 a . 193(), entraram no Estado de São ^79? imigrantes dos .... r V cn / ^ o.hegados ao Brasil, cerca fi8B'7 P°^tanto. Foi justamente de i-PfpKíf. ● outros Estados fPQ ^Penas 38,9% dos imigranPíini os demais para São Paulo. De 1901 a 1930. São Paulo recebería ainda mais de 59% dos imi grantes chegados ao país.
Do total chegado . . . - até 1886 constitui-se o maior contingente de portu gueses, em número de 245.117. Des ses, apenas 5,4% dirigiram-se para a Província paulista. O segundo con tingente e formado pelos italianos, j que somam 148.315, dos quais 14,1% ; . procuraram São Paulo.
■
Entre 1887 e 1930 perdem a primazia, italiana a mais forte das imigratórias canalizadas sil: no decurso desse
os p pa
ra o Bva. período che¬ garam ao Brasil 1.341.649 italianos, dos quais 68% vieram para São Pau lo, quase atingindo 1 milhão de imi grantes. Mostra-se essa preferência mais forte enfere 1901 e 1920, período em que São Paulo recebe cêrea de
1900 , italiana o período áureo da imigração . para o Brasil, tendo chega do nosso país 890.(370 italianos, quais 5G4.800 viei'am i)ara o Es tado de São Paulo. Nos .30 anos seguintes chegariam ao Brasil mais 450.979^ imigrantes italianos, 77Çp os quais dariam preferência a Sâo Paulo.
do dos
Parece-nos estar a razão da conti nuidade dessa preferência na imporancia da colônia italiana já aqui raícada, desempenhando a mesma o papel de ímã na orientação dn«? vas correntes. no-
Os espanhós constituíram também ”^^P®^’tante corrente imigratória paia o Brasil. 560.639 1887
uma Em número de dirigiram-se para cá entre r-in. procura;am Sao Paulo, liana, adensou pois de 1900, 375.198
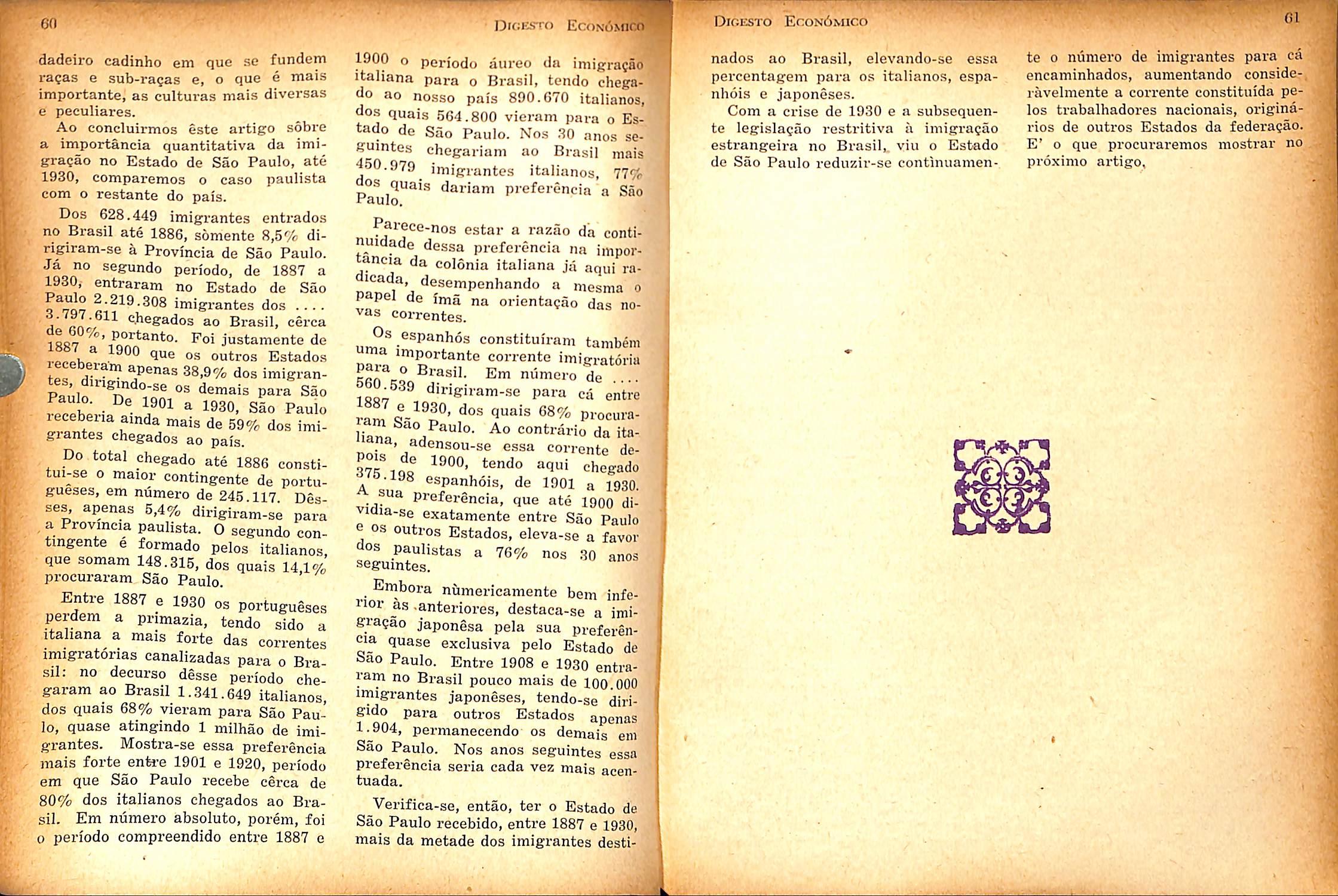
A a 76% nos 30 anos
Ao contrário da ita-se essa corrente detendo aqui chegado espanhóis, de 1901 a 1930. sua preferência, que até 1900 dilaia-SG exatamente entre São Paulo 0 os outros Estados, eleva-se a favor oos paulistas seguintes.
Embora numericamente bem infeiior às 'anteriores, destaca gi’açâo japonesa pela “Se a imi* sua preferên
ortugueses tendo sido correntes a cia quase exclusiva pelo Estado de fc-ao Paulo. Entre 1908 e 1930 entra gam no Brasil pouco mais de 100.000 imigrantes japoneses, tendo-se diri gido para outros Estados
» * n 1.904, permanecendo os demai Sâo Paulo. Nos anos seguintes preferência seria cada vez tuada.
j. r_,80% dos italianos chegados ao Bra sil. Em número absoluto, porém, foi 0 período compreendido entre 1887 e
apenas s ein essa uiais acen-
Verifica-se, então, ter o Estado de São Paulo recebido, entre 1887 e 1930, mais da metade dos imigrantes desti-
GO DlíJKS-ro EcONÓMirO
L
nados ao Brasil, elevando-se essa percentagem para os italianos, espanlióis e japoneses.
Com a crise de 1930 e a subsequen te legislação restritiva à imigração estrangeira no Brasil,, viu o Estado de São Paulo reduzir-se contínuameni
te o número de imigrantes para cá encaminhados, aumentando conside ravelmente a corrente constituída pe los trabalhadores nacionais, originá rios de outros Estados da federação.
E' o que procuraremos mostrar no próximo artigo,
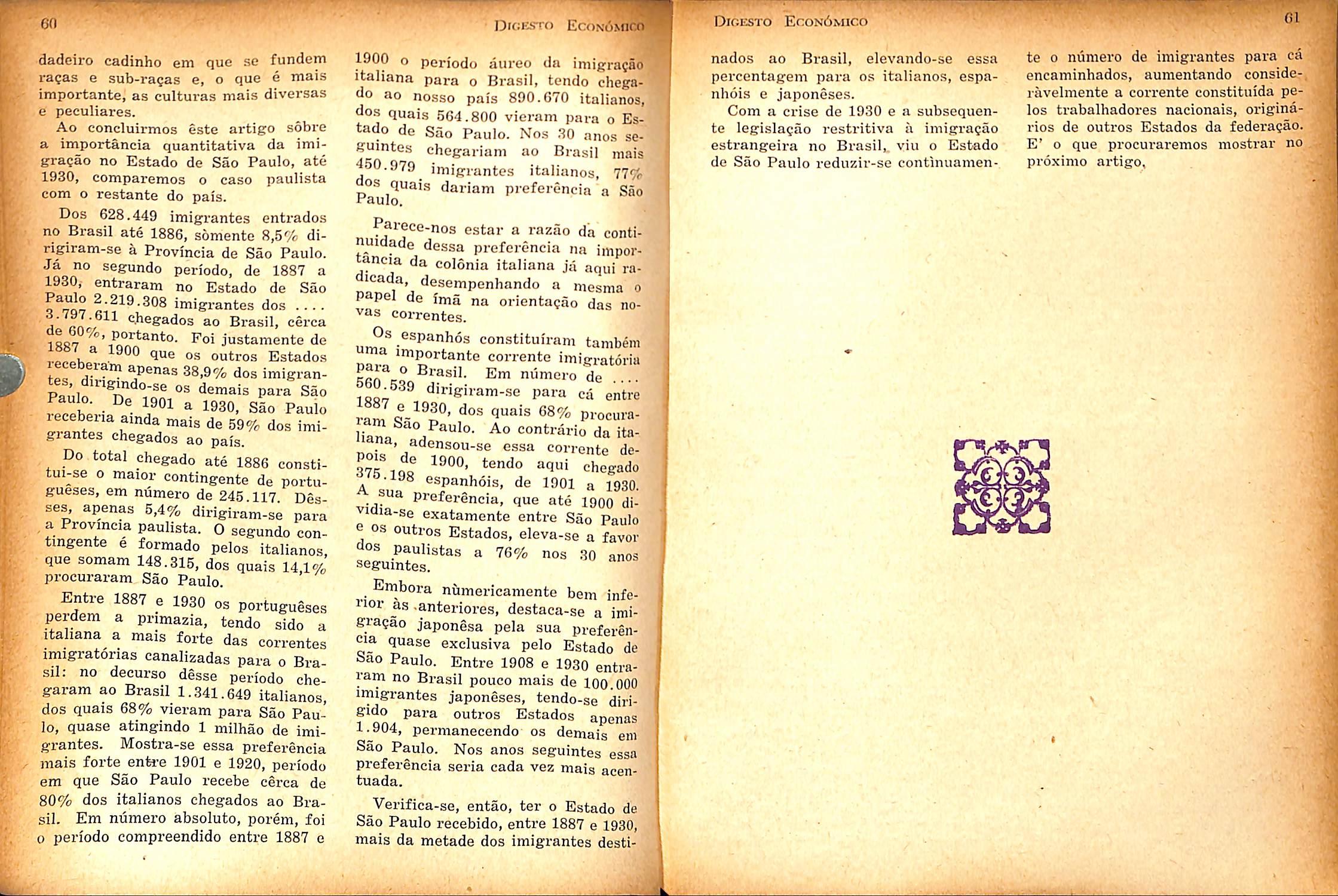
01 Dioicsto Econômico
n PREÇO ÚNICO 00 AÇÚCA
RonEHTO Pinto dk Souza’
RESOLUÇÃO 619 do Instituto do Açúdo Álcool, instituindo o preço único do açúcar, levantou acalorados deI' bates e a intervcniéncia do Govòmo do t Estado de São Paulo. Isto mostra l, interesses que estão cm jôgo e.o alcanS' ce da medida decretada pela autarquia. De fato, a resolução apontada modifir, ca substancialmcnte a política açucareip ra e introduz novo princípio na política jí econômica do Governo Federal, r necessidade de analisar a questão sob F. ússes dois aspectos, l- No que toca ao primeiro, estabelece A duplo critério na fixação do
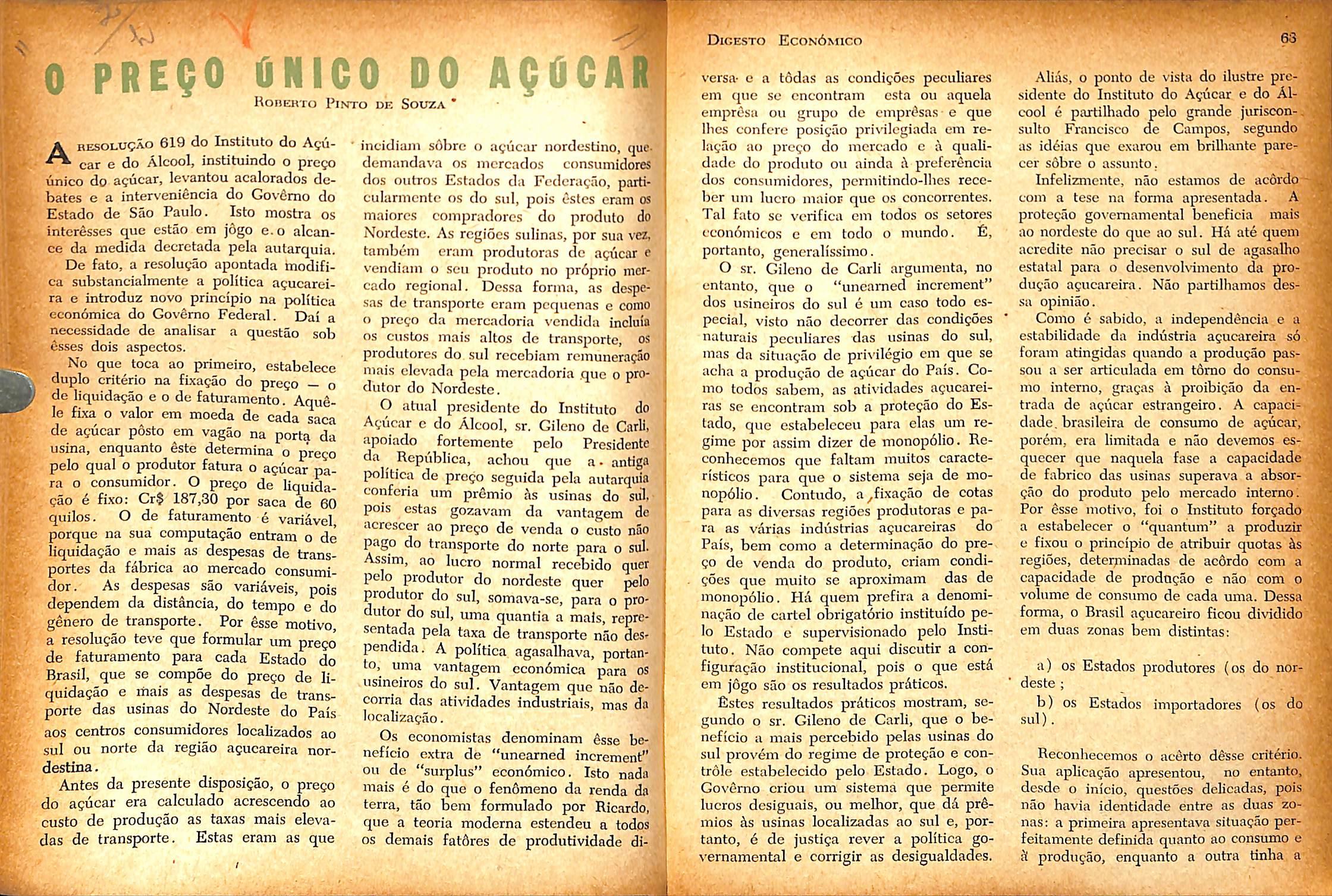
car e os Daí a preço — o
sas os pela mercadoria que o prom de liquidação e o de faturamento. Aquôle fixa o valor cm moeda de cada t;. de açúcar pôsto saca em vagão na porta da
incidiam sòbrií o açúcar nordestino, que *' demandava os mercados consumidores dos outros Estados da Federação, parti- r cularmcnte os do .sul, pois èsles eram os maiores compradores do produto do Nordeste. As regiões sulinas, por sua vez,' também vendiam o eram produtoras dc açiicar c sou produto no próprio mer cado regional. Dessa forma, as despe do transporte eram pequenas e como o preço da mercadoria \-endida incluía os custos mais altos dc transporte, produtores do sul recebiam remuneração mais elevada dutor do Nordeste.
O atual presidente do Instituto do Açúcar c do Álcool, sr. Gileno dc Carli, apoiado fortemente pelo Presidente da República, achou que a - antiga usina, enquanto este determina ^ , o preço P pelo qual o produtor fatura o açúcar paI ra o consumidor. O preço de liquidat*' ção é fixo: Cr$ 187,30 por saca de 60 í . quilos. O de faturamento é variável , porque na sua computação entram o dc v:. liquidação e mais as despesas de transiL portes da fábrica ao mercado consumiè dor. As despesas são variáveis, pois f' dependem da distância, do tempo e do gênero dc transporte. Por esse motivo, resolução teve que formular um preço fv' de faturamento para cada Estado do jf Brasil, que se compõe do preço de li-
f a ^ quidação e mais as despesas dc transí porte das usinas do Nordeste do País centros consumidores localizados sul ou norte da região açucareira aos ao nor-
r destina. Bv Antes da presente disposição, o preço E* do açúcar era calculado acrescendo ao *● custo de produção as taxas mais eleva das de transporte. Estas eram as que
política de preço seguida pela autarquia conferia um prêmio ás usinas do sul. pois estas gozavam da vantagem dc acrescer ao preço de venda o custo não para o suí no lucro normal recebido quer pelo produtor do nordeste quer pelo produtor do sul, dutor do sul,
pago do transporte do norte Assim, somava-sc, para o prouma quantia a mais, repre sentada pela taxa dc transporte não des pendida. A política agasalhava, to, uma portanvantagem econômica para os usineiros do sul. Vantagem que uão de corria das ati\idades industriais, localização. mas da
Os economistas denominam êsse be nefício extra de “unearned increment” j ou de “surplus” econômico. Isto nada ● mais é do que o fenômeno da renda da ■ terra, tão bem formulado por Ricardo, que a teoria moderna estendeu a todos os demais fatôres de produtividade di-
L
versa- e a todas as condições peculiares em (pie se encontram esta ou aquela emprésa ou grupo do emprésas e que lhes confere posição privilegiada em re lação ao preço do mercado c à quali dade do produto ou ainda à preferência dos consumidores, permitindo-lhes rece ber um lucro maior que os concorrentes. Tal fato SC \x'rifica cm todos os setores i:conómico.s c cm todo o mundo. É, portanto, generalíssimo.
O sr. Gileno de Carli argumenta, no entanto, que o “uneamed increment” dos usineiros do sul é um caso todo es pecial, visto não decorrer das condições naturais peculiares das usinas do sul, mas da situação dc privilégio cm que se aclia a produção de açúcar do País. Co mo todos sabem, as atividades açucareiras se encontram sob a proteção do Es tado, que estabeleceu para elas um re gime por assim dizer de monopólio. Re conhecemos faltam muitos caracte- que rísticos para que o sistema seja de mo nopólio. Contudo, a ^fixação de cotas para as diversas regiões produtoras e pa ra as várias indústrias açucareiras do País, bem como a determinação do pre ço de venda do produto, criam condi ções que muito se aproximam das de monopólio. Há quem prefira a denomi nação de cartel obrigatório instituído pe lo Estado c supervisionado pelo Insti tuto. Não compete aqui discutir a con figuração institucional, pois o que está em jogo são os resultados práticos.
Êstes resultados práticos mostram, se gundo o sr. Gileno dc Carli, que o be nefício a mais percebido pelas usinas do sul pro\'ém do regime de proteção e con trole e.stabclecido pelo Estado. Logo, o Governo criou um sistema que permite lucros desiguais, ou melhor, que dá prê mios às usinas localizadas ao sul e, por tanto, é de justiça rever a política gov'ernamental e corrigir as desigualdades.
Aliás, 0 ponto de vistu do ilustre pre sidente do Instituto do Açúcar e do Ál cool é partilhado pelo grande juriscon-. sulto Francisco de Campos, segimdo as idéias que exarou em brilliante pare cer sòbre o assunto, Infeliznicnte, não estamos de acordo com a tese na forma apresentada. A proteção go\'emamcntal beneficia mais ao nordeste do que ao sul. Há até quem acredite não precisar o sul de agasalho estatal paru o desenvolvimento da pro dução açucareira. Nao partilhamos des sa opinião.
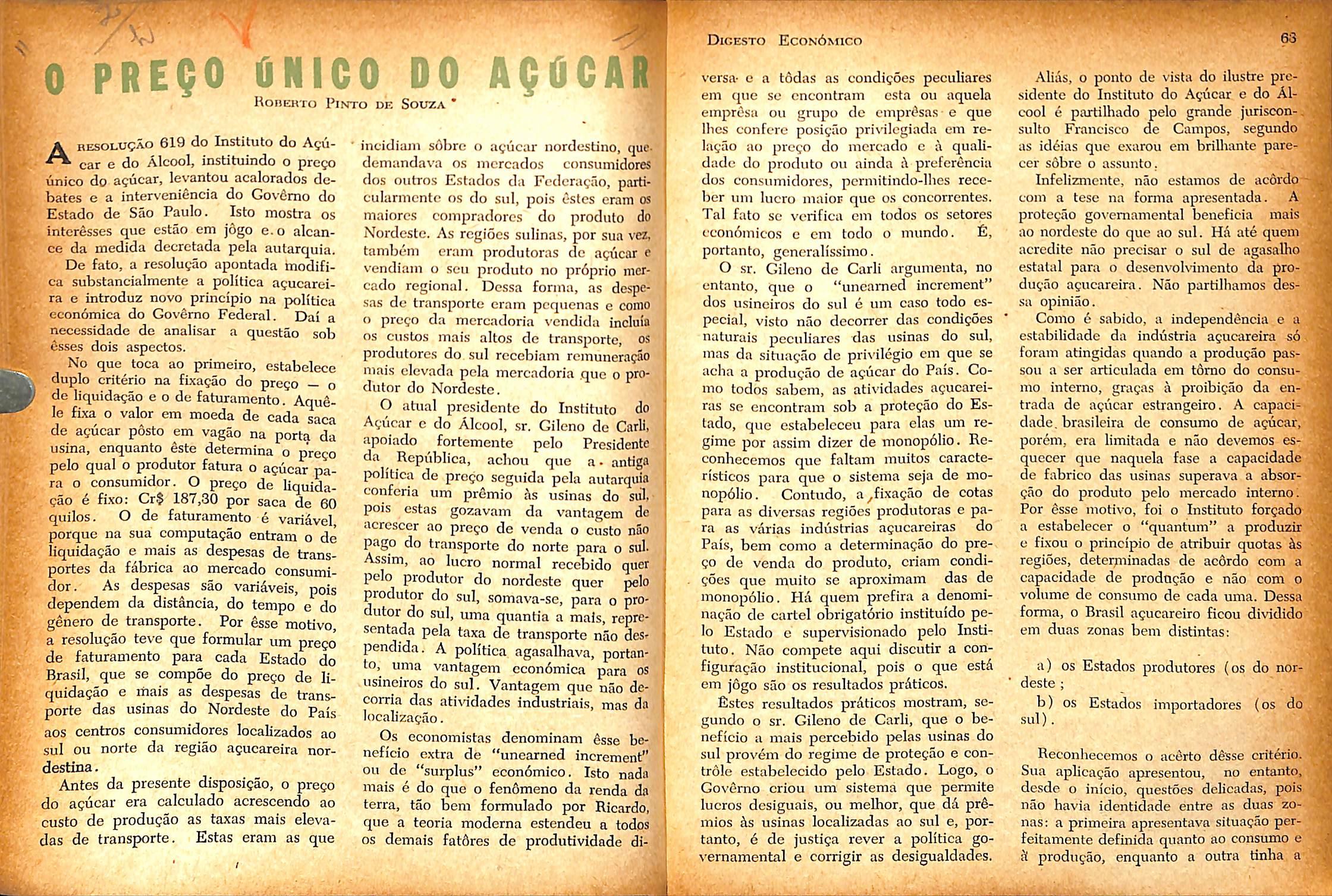
Como é sabido, a independência e a estabilidade da indústria açucareira só foram atingidas quando a produção pas sou a ser articulada em tômo do consu mo interno, graças à proibição da en trada de açúcar estrangeiro. A capaci dade. brasileira de consumo de açúcar, porém, era limitada e não devemos es quecer que naquela fase a capacidade de fabrico das usinas superava a absor ção do produto pelo mercado interno. Por esse motivo, foi o Instituto forçado a estabelecer o “quantum” a produzir e fi.vou o princípio de atribuir quotas às regiões, determinadas de acordo com a capacidade de produção e não com o volume de consumo de cada uma. Dessa forma, o Brasil açucareiro ficou dividido em duas zonas bem distintas:
u) os Estados produtores (os do nor■ deste ;
b) os Estados importadores (os do sul).
Reconhecemos o acerto desse critério. Sua aplicação apresentou, no entanto, desde o início, questões delicadas, pois não havia identidade entre as duas zo nas: a primeira apresentava situação perfeitamente definida quanto ao consumo e à produção, enquanto a outra tinha a
63 Digesto Econômico
sua indústria açucareira e o seu consunio em plena marcha ascendente. En tretanto, convenhamos, melhor não era possível fazer-se na ocasião. A econo mia nordestina há séculos se estribava na produ^-üo açucareira, ao passo que a do sul tinha como esteio o café e outros produtos. Era justo, portanto, usinas da zona que as tradicional produzissem
r mos
mais que as do sul, ainda , , , novatas nesse genero industrial, pois as antigas produ> (^es haviam cedido terreno à rubiácea. Assim, desde o começo da intervenção gov^ernamental o nordeste foi mais bc.. neficiado pela política protecionista e es ta situaçao perdura até o presente. Vaexphcar-nos.
ritmo dl- crescimento do consumo suli¬ no tomou proporções gigantescas c náo foi mais possí\ c‘l atribuir os aumentos de produção i‘xilusi\-amentc ou na sua maior parle ao nordeste: a princípio de vido às dificuldades criadas pela gucmi submarina i* mais tarde pelas próprias condições da produção norilestina. Co meça então o ciclo i-xpansionista da pro dução sulina, cabendo a São Paulo a li derança do abaixo inovinienlo. indicam o \erliginoso números aumento
da produção paulista:
fOs centros importadores possuíam marcado de consumo dinamico"^^ dÒss” forma, ano a ano crescia o volume dí açuear por ôles consumido. Os aumem tos de produção para cobrir ção de consumo, no entanto, nao eram atribuídos as usinas do sul, mas à.s do nordeste. E verdade que vez por outra permitia o Instituto que as fábricas do sul elevassem as suas quotas. Tal estado de coisas pode persisHr até o início'da dezena dos anos quarenta, visto a evoliição do consumo das regiões sulistas ter se processado, até aquela data, num ritmo cie progresso contínuo, porém não muito acelerado. Dc 1942 em diante o
essa clcva-
1941/42 1943/44 194.5/46 1947/48 1949/,50 1951/52
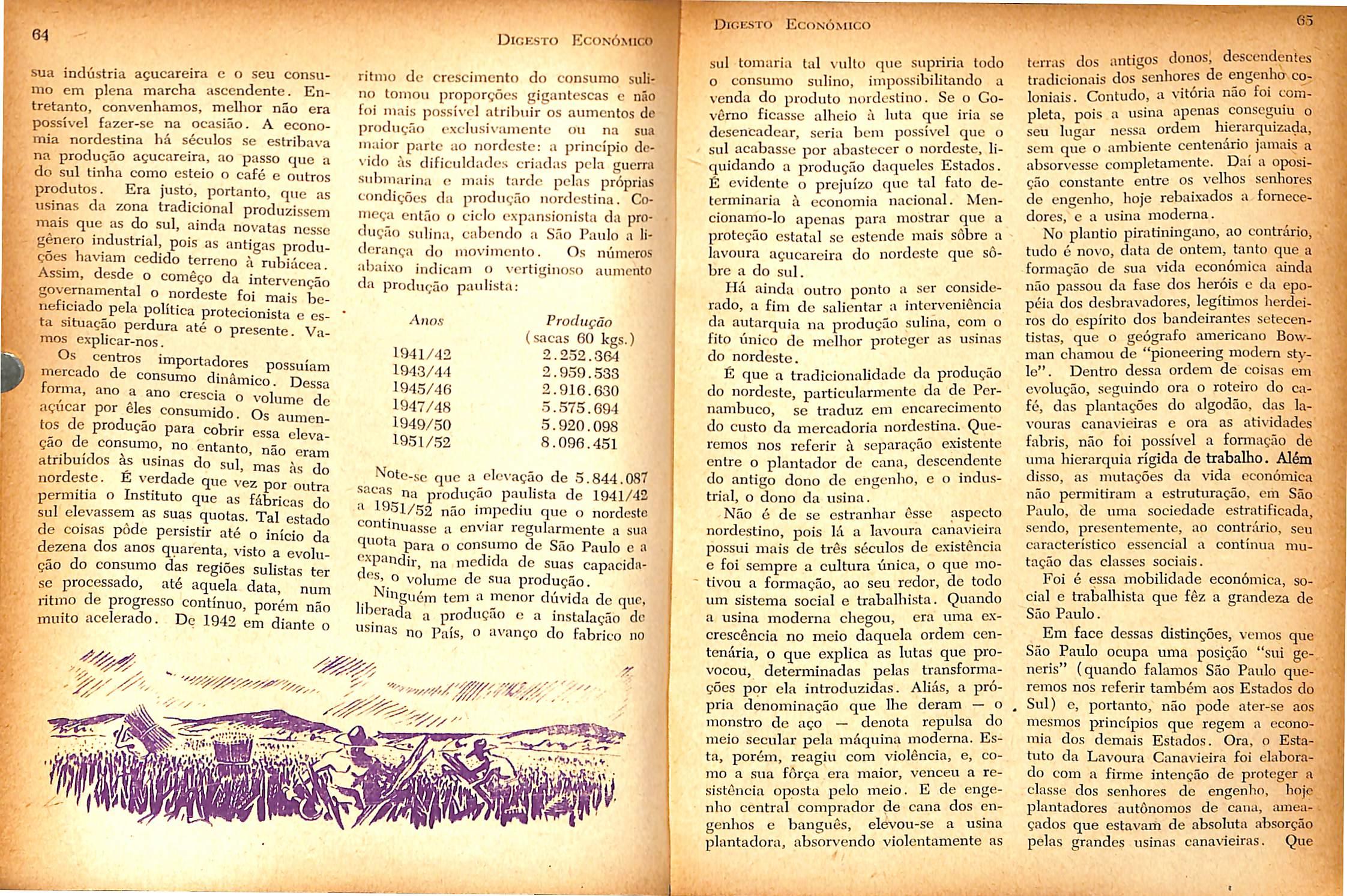
Os /Vno.s Produção (sacas 60 kgs.) 2.2o2.3r>l 2.959.533 2.910.630 Õ.575.694 5.920.098 8.096.451
saca.s e a capacida- suas o volume cie .sua produção, tem a menor cliuida dc que, liberada a produção o a instalação de nsinas no País, o a\-anço cio fabrico no V
OioKSTO Econômico ’ 04
1^’oto-sc que a clciação de 5.844.087 na produção paulista cie 1941/42 u 1951/52 nao impc'díu que o nordeste continuasse a enviar regularmente a sua quota para o consumo dc São Paulo expandir, na medida dc Cics, i
sul tomaria tal \iillo <juc supriria lodo o consumo sulino, impo.ssibilitando a venda do produto nordestino. Se o Govèmo ficasse alheio à luta que iria se desencadear, seria bem possível que o sul acabasse por abastecer o nordeste, li<piidando a produção daqueles Estados. Ê e\idente o prejuízo cjuc tal fato de terminaria à economia nacional. Mencionamo-lo apenas para mostrar que a proteção estatal se estende mais sòbrc a lavoura açucareira do nordeste que so bre a do sul.
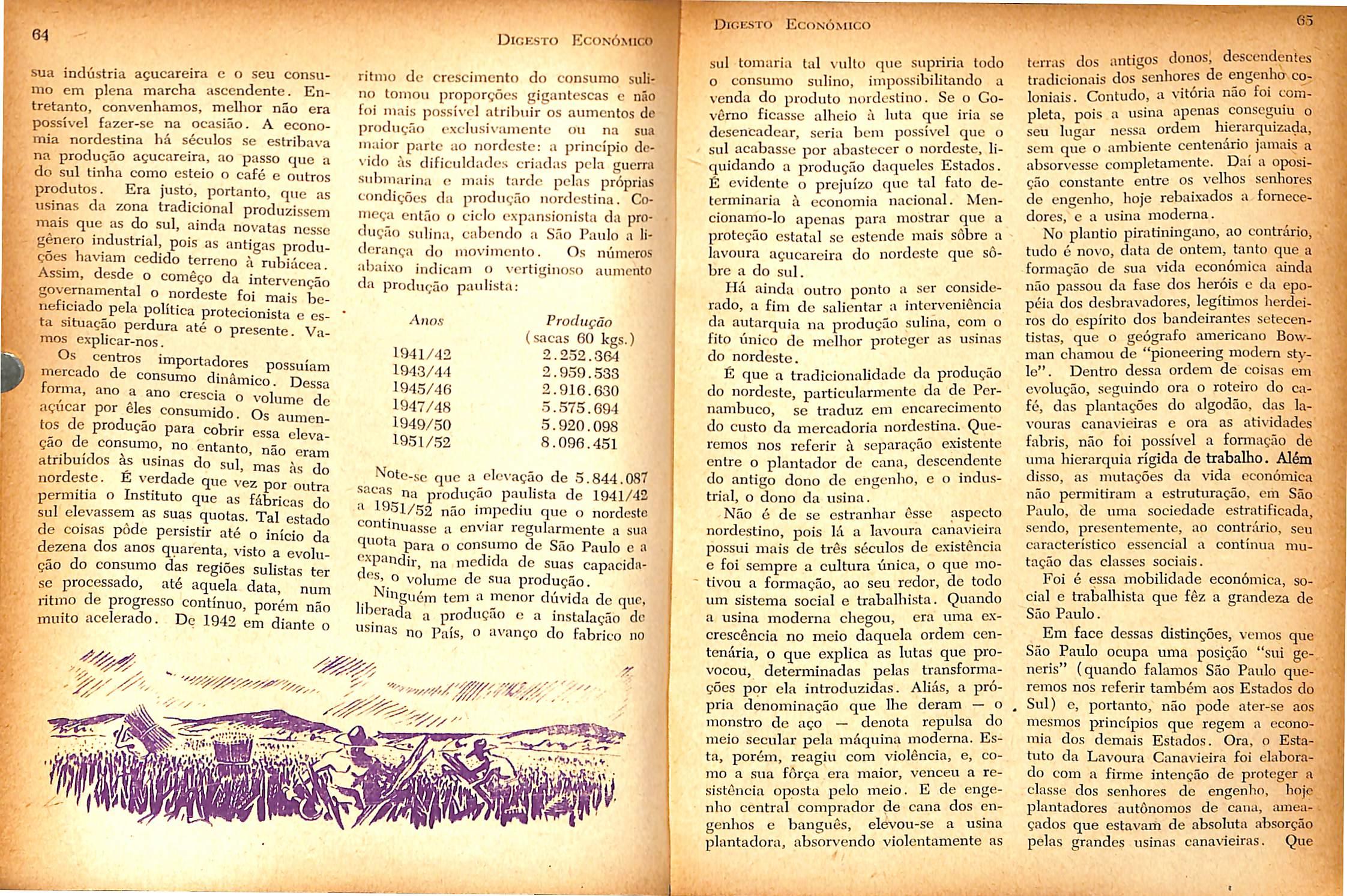
Há ainda outro ponto a ser conside rado, a fim de salientar a intervcniôncia da autarquia na produção sulina, com o fito iinico de melhor proteger as usinas do nordeste.
É que a tradicionalidade da produção do nordeste, particularmente da de Per nambuco, se traduz em encarecimonto do custo da mercadoria nordestina. Que remos nos referir ã separação existente entre o plantador dc cana, descendente do antigo dono dc engenho, e o indus trial, o dono da usina.
donos, descendentes terras dos antigos tradicionais dos senliores de engenho co loniais. Contudo, a vitória não foi com-
pleta, pois a usina apenas conseguiu o ordem hierarquizada, seu lugar nessa ambiente centenário jamais a sem qiie o absorvesse coinpletamcntc. Daí a oposivclhos senhores ção constante entre os do engenho, hoje rebaixados a fornece dores, e a usina niodenia.
estranhar esse aspecto lavoura canavieira mo-
ros
ern uma excen-
Não é dc se nordestino, pois lá a possui mais de trós séculos de existência e foi sempre a cultura única, o que tivou a formação, ao seu redor, de todo um sistema social e trabalhista. Quando a usina moderna chegou, crescência no meio daquela ordem tenária, o que explica as lutas que pro vocou, deteiminada.s pelas transforma ções por ela introduzidas. Aliás, a pró pria denominação que lhe deram — o monstro dc aço — denota repulsa do meio secular pela máqtnna moderna. Es ta, porém, reagiu com violência, e, co mo a sua força era maior, venceu a re sistência ojKJsta pelo meio. E de enge nho central comprador de cana dos en genhos e banguês, elevou-se a usina plantadora, absorvendo violentamente as
No plantio piratiningano, ao contrário, tudo é novo, data de ontem, tanto que a formação de sua vida econômica ainda não passou da fase dos heróis e da epo péia dos desbravadores, legítunos herdeido espírito dos bandeirantes sctecentistas, que o geógrafo americano Bowman chamou de “pioneering modem styIc”. Dentro dessa ordem de coisas cm evolução, seguindo ora o roteiro do ca fé, das plantações do algodão, das la vouras canaviciras c ora as atividades fabris, não foi possível a fonnação de uma hierarquia rígida de trabalho. Além disso, as mutações da vida econômica não pennitirum a estruturação, em São Paulo, de uma sociedade estratificada, sendo, presentemente, ao contrário, seu característico essencial a contínua mu tação das classes sociais.
Foi é essa mobilidade econômica, so cial e trabalhista que fez a grandeza de São Paulo.
Em face dessas distinções, vemos que São Paulo ocupa uma posição “sui gencris” (quando falamos São Paulo que remos nos referir também aos Estados do Sul) e, portanto, não pode ater-se aos princípios que regem a econo mia dos demais Estados. Ora. o Esta tuto da Lavoura Canavieira foi elabora do com a firme intenção de proteger a classe dos senhores de engenho, hojo plantadores autônomos de cana, luneaçados que estavam de absoluta absorção pelas grandes usinas cana\aeiras. Que
mesmos
6.^ Eí:onómu:o Dici-sto
Estados possuem esse problema . Os do Nordeste. Em São Paulo, como v.mos, sombra dos mescm Piratininga uma não SC observa nem a Ouerer aplicar
legislação cpic regulamente cond.çoes que não lhe são próprias, e ilogico e in justificável. Porém, cpiando se pretende ● ir ainda além, como elevar os colonos a
achamos que o argumento do “suiplus” econômico não ó con\iucciilc.
Pode-sc ainda imocar outro argumen to conlrário à lese cio “uiicarncíd íncrement.” A obrig.itorifdadc! dos usincirus do sid de recollu-rem a dífcronç;r o preço de riaiumc*ração e o preç'0 dc fa turamento age como imposto tendente a eliminar sulinos.
mos. de fornecedores, mostra-se o de criar no sul uma conestatuída pelo I. A. A. será empregado na melhoria cia técnica cio produção do açúcar. Na situação presente, são as
categoria firme propcisito dição de trabalho cpie encareça a produç-ão, de molde a igualar o seu custo ao do nordeste e assim diminuir a distância ejue separa as duas zonas produtoras.
' Poderiamos citar outras medidas, to- niadas pela autarquia, com o fito c.\presso dc proteger a lavoura do nordeste ">■ contra as melhores condições da sua ri- vai do sul. As mencionadas, no entanto, provam sobejamente o ponto que dese; jamos pôr em evidencia — os cuidados especiais cjue a autarquia tem para com a zona tradicional do açúcar. Não fôssem êsses cuidados, bem diferente seria a si tuação aluai do açúcar no nordeste.
^ Como veem, partindo-se destas observações, pode-se sustentar com exito ■'T; tese de que o “unearned increment” exis tente a favor das usinas do sul é o be nefício que recebem para permitir que nordeste continue a produzir açúcar e nesse caso o nordeste também goza de .V, vantagem econômica, pois a sua
se o
entre parte do lucro dos produtores ü capital acumulado na fornu
usinas do sul (juc produzem com melho res resultados industriais, se bem sejam defieientes, segundo a crítica severa fei ta pelo Plano Salte. Dessa fonna, os in vestimento?: do capital í diferença ciUrc os dois leunuilado pob preços serão rc.ilizadüs de preferência no nordeste. Mais uina vez o sul contriljuirá cliição nordc-slina para a proc esta receberá ouc-conómiea ele boas pm- Ira vantagem porções.
E inútil dizer que não somos defenso res da tese do quer a favor do svil, norte.
“unearned increment”, quer a favor do Compartilhamos da opinião de que no Brasil, norte c sul pressões geográficas destituídas dc econômico c
sao exnexo político. Econômica e poli ticamente existe apenas a totalidade do território, da população, da produção e da renda nacional e é a interligação de las que forma a grandeza do País.

produ P sacas a
Vejamos o scgjtndo principio que de corre da medida governamental. Disse mos (JUC cia implicava na introdução de nova orientação na política econômica do Governo Federal, qual seja, “custear a modernização de detemiinados manufalurciros com a contribuição dos consumidores e dos industriais das mais avançadas”.
I
iV- I
1 ;í,
Dicesto Eco 66
i 4 ^ s f 'ts
a í ~?-.í o 1 ) ‘V produção não se faria no volume atual ■ Instituto não obrigasse os Estados do f?' sul a adquirirem quantidades estipula das de açúcar da zona tradicional. Per nambuco, por exemplo, fabrica 8 milhões de sacas aproximadamente. Quase a me tade desse total é exportada para os Es tados do sul; portanto, estes deixam de zír êsse montante cm benefício de , Os 4 milliões de
I ramos zonas ernambuco iç da sa mais pernambucana podem classificados como um fra U une- também ser j increment
A nova idéia requer maior reflc.xão, pois envolve grande intcrvcncinni.smo Por êsse motivo.
arne
o mesmo venha ou mogo\cmaineiital, .sem que acompanhado de um sistema, plano de desenvolvimento devichimenlcí estudado e reeonlieeido coo melhor para a solução de
Ihor, de uin mó .sendo certos problemas.
Comprocnde-se que as modifiquem a política de crédito, que para a realização de certas ●iços públicos, aprovados em dinheiro dos Ins-
auloridudes eneaminliem obras e ser\ estudos preliminares, o tilutos Sociais e das Caixas Econômicas Federais, como fizeram, por exemplo, em à usina de Panlo Afonso, mas reiuçao arrecadar na forma como a nova regu lamentação do Instituto do Açúcar o do Álcool estabelece, para aplicar em inver sões iiipolélicas, ainda não planejadas c, portanto, que não se sabe se sao meri tórias ou não, ■ não parece ser princípio recomendável de política econômica, se o Insti- Não faríamos essa objeção tnto, a exemplo da Clomissão sil-Estados Unidos, ti\essc feito um Icxuntaniento do tôdas as necessidades de melhoramento da produção de açúcar do Baís, acompanhado dc estudo minucioso de tôdas as obras a serem executadas e dc todos os equipamentos a quiridos, seguido do plano completo de inversões a serem feitas e do modo co mo financiá-las. Teríamos, então, sólido ponto dc apoio para iniciarmos a obra meritória do modificar a técnica atual deficiente e cara de produção dc açúcar por um processo mais racional e dc maior eficiência, dc molde a alterar substancialmentc o
Mista Braserem aduin custo de produção da referida mercadoria.
Ciulü no gòncro clt* imíTSÕes proposto pelo Instituto do Açúcar e do Álcool ou em outras atividades produtoras. Essa indagação se impõe visto no Brasil tudo estar por se fazer o, no que toca ao nor deste, as outras possibildiades que ofereee talvez se traduzam, no .momento, em beneficio superior para a economia da própria zona e da Nação do que a melhoria da técnica de produção do açúcar.
Para citar alguns exemplos, lembra mos, além do babaçu, que é hoje assun to internacional, dadas as suas imensas possibilidades econômicas, céras como a de carnaúba e a dc urueiiri.
aceito o novel ccoMesmo assim, a ser princípio governamental de política nômica, S(‘ria necessário verificar se o dinheiro arrecadado dos consumidores seria invertido de ● modo a produzir melhores re.sultados para a região a que SC destina c para o País em geral se apli-

os
A carnaúba é umu das grandes rique zas do nordeste, que, no entanto, não tem produzido os resultados econômicos que se poderiam dela esperar. Tal fato decorre da técnica rudimentar dc sua ex ploração. Sabe-se, porém, que a moder nização do processo extrati\o poderia proporcionar grandes lucros. A procura internacional é imensa c o Brasil é o úni co país capaz de a produzir em escala comercial. Além disso, a procura da re ferida cera aumenta contimuimcnte, virtude de a evolução industrial criando novos campos de aplicação para as céras duras, sendo a dc carnaúba que reúne os melhores requisitos para atender a essas nova.s utilizações. Assim, além das manufaturas do graxas e de papel-carbono, grandes absor\-cdoras de ce ra de carnaúba, surge, com o advento dos lubrificantes e produtos para refri geração, utilizados em todo.s os tipos de perfilaçao dc metais e funcionamento do máquinas, bem de artigos de metal e de borracha, a fim de evitar a oxidação das superfícies, vas to campo do c-nnsumo para a cera bra sileira.
cm estar a eomo no rcA-cstimcnto
Infelizmcnte, o artigo nacional conti nua a ser produzido em quantidades pe-
07 DicKSTO ]-:roNÓMic:o
quenas, insuficientes para atender à pro cura internacional. Para suprir essa de ficiência de abastecimento, os países al tamente industriali2:ados iniciaram pro
dução de cêras sintéticas, que remediam a situação, mas não resolvem o proble ma. O campo continua ainda aberto ra o produto brasileiro. pa-
Poderíamos ainda lembrar Paulo Afon so e as possibilidades de industrialização das matérias-primas do nordeste, fornecimento de nar
que o ^ energia pode proporcioaquela vasta região do territó
“Na realidade, aliás, as possibili dades do Norte, como produtor de açúcar, não encontram nuiito campo para uma expansão prová vel. Não liá exagero cm se di7.cr que o Norte produz atualmente o máximo de suas safras, se não con seguir resolver, sobre bases econô micas, o problema da adubação".
rio cjonal. A importância das obras da ferida usina, segundo o senador Apolômo Sales, resulta da convicção de que se reerguería a economia nordestin desde que houvesse energia elétrica abundante, barata e constant. com que se pudesse contar para a instalação de um grande parque industrial rasse salários e mercado prima existente”. Ora trialização seria
narca que assegupara a matériapara essa indiis-
Como veem, não é pacífica a solução proposta pelo 1. A. A. para o enrique cimento do nordeste. Os recursos finan ceiros do Brasil são, entretanto, reconhe cidamente escassos e numa hora de difi culdades C03UO a presente, ein que a cspassa por nao são aconsetrutura econômica nacional grande transformação,
Iháveis inversões em empreendimentos de resultados positivos diminutos, segunj comprovam as palavras do ex-presidente do I. A. A. acima transcritas.
.. . preciso planejamento e mvesUmentos em largas proporções ra se conseguir o yolume de capital cessário pam as obras a serem exeeutadas dever-se-iam então mobilizar cursos financeiros disponívei
e paneos reda Nação
Segundo os entendidos, a vingar o princípio governamental decorrente da resolução do Instituto do Açúcar e do Álcool, colhería o nordeste maior provei to desde que os capitais fôssem dirigidos para outros setores, cujas possibilidades sao bem maiores que as do açúcar A es se respeito, transcrevemos a seguir a opinião insuspeita de Barbosa Lima So brinho, inserta no relatório de sidência no I. A. A. na 162:
Somos de opinião que u grandeza do ^ só pode ser atingida com o desen volvimento harmônico de todas regiões. Acreditamos ter
do País as suas o sul atingido
um ponto de nmturidade c de dinamis mo econômico qnc deve ser expandido para os Estados do norte. Daí jiilgar. o norte do e do capital sulino modifi cará o sistema de produção daquela rc- ■ gião e a integrará no ritmo econômico vertiginoso do sul, todo o País.
mos que a exportação para “know how” . ' com benefício para Convenhamos
sua preLá está à pági-
, porém, que essa tarefa só será executável com o le vantamento prévio das possibilidades produtivas do norte e com a propaganda dessas possibilidades, a fim de atrair u iniciativa e o capital particular dos ho- ' mens do sul, e não com a interv-enção estatal, que antes afugenta do que atrai os empreendedores nacionais.

ep, Dicusto ECOSÕNUC!
|^*************«*******«** J
inflação,
/● BEUNAIU) Pajistk (Professor Universitário de Finanças Públicas)
I. Definição.
A ciência financeira designou como impostos sôbre o capital vários imposto.s que é preciso diferençar, secomo de gundo sua natureza, assim acordo com a técnica de sua situação e de sua recuperação.
Numa primeira aceiição ção, temos de proceder a uma retira da permanente, cuja situação é o cajiital e que é paga pelo capital.
Neste caso, trata-se do imposto sô bre o capital por excelência, que en contramos em fiscais, como, por exemplo, o impôsto sôbre as sucessões ou o impôsto pro porcional de sêlo sôbre as transmis-
desta notôdas as legislações soes.
Em segundo lugar, Êste impôsto não tem o
é preciso dis tinguir o que se designa como impôstp extraordinário sôbre o capital, cuja situação é igualmente o capital, mas que é retirado uma só vez, sendo percebido exclusiva ou principalmente do capital, caráter permanente do impôsto sôbre as sucessões mas se apresenta como um meio fiscal extraordinário, apli cado nos momentos excepcionais da vida de um Estado, com o objetivo
preciso de fazer frente, com uma me dida heróica, às despesas especiais ser cobertas de que não poder.iam maneira satisfatória pelos meiOs fis cais ordinários (impostos correntes e créditos).
Segundo tal concepção, o impôsto
sôbi-e o capital repre- extraordinário . senta o sacrifício excepcional, ao qual capital para sua própria salvação, num momento extremamen te crítico; não pode, contudo, ser re tirado de uma só vez, embora a técnica de sua recuperação pudesse escala de pagamen tos, mesmo durante vários anos.
aouiesce o recorrer a uma
O professor Gaston Jèze (1) acen tua que, sob esta forma, o imposto extraordinário sôbre o capital não poderia ser percebido senão No mesmo sentido se pronunciam também: V. Badulescu (2), Chlepner (3), Einaudi (4), Just Haristoy (5) J. M. Keynes (6) e Rist (7). ^
uma vez,
A terceira forma sob a qual pode funcionar ou ser concebido o imposto sôbre o capital é aquela na qual se trata de uma retirada complementar do imposto global propriamente dito.; Neste caso, as cotas do imposto são
(1) “LTmpôt Extraordinaire sur le Ca pital comme Moyen de Liquider les Chatt ges Financières de la Guerre”. publicado, na “Revue de Science et Législation Financière”. 1919. pág. 173. **l
(2) “Le Prélèvement Extraordinaire sur le Capital dans TEmpire Allemand”, edii ção Giard. ^
(3) “Le Prélèvement sur IS Capital daps ■-1 Tliéorie et dans la Pratique”, ediçao Lamartine, Bruxelas.
(4) “II Problema delle Finanze PostBellice", Milano, 1919. , _ ^
(5) “L’impôt comolémentaire sur le Ca-I pitai”, na “Revue Politique et Parlamen-J taire”, janeiro de 1927. ^
(6) "Tlie Economic Consequences of th^ Peace”, London, 1920.
(7) "La Déflation en Pratique 1920. Payoi

\
A
o empréstimo compulsório e imposto extraordinário sôbre o capital
muito reduzidas e o prazo de paga mento cobre vários anos. Desta ma-
^ neira, segue-se que o pagamento do imposto sôbrc o capital pode ser efotuado pela respectiva renda, sendo o capital principalmente um elemento para apreciar c determinar o imnôsto. Tal imposto serviría principal mente para uma discriminação das rendas e constituiría uma tentativa para diferenciar as rendas sujeitas a impostos, segundo sejam produto do capital ou do trabalho, ou então das rendas mistas. Êste imposto so bro o capital pode ser utilizado para tornar rendosos também improdutivos, como, por exemplo, ^ as joias, os quadros de valor, etc. M/ Estas três formas ^ do imposto sôbrc pitai são próprias das doutrinas latina glo-saxônica.
A doutrina alemã faz uma distinção en tre o imposto sôbre o capital propriamente dito e o imposto nomi nal sôbre o capital. O primeiro é retirado exclusivamente do ca pital, enquanto que o segundo não atinge .0 capital em si mes mo, gravado apenas aparentemente. Em outros termos, o único elemento conta para constatar se imposição constitui um imposto bre o capital é ver se o imposto é pago do capital ou da renda. Sob esse ponto de vista, o problema de seu caráter objetivo e torna-se puramente subjetivo, visto que, atravé.s de um consumo mais intensivo
os capitais o cae anque uma certa so¬ per-
de bens, o contribuinte que tivesse utilizado tôda sua renda seria força do a pagar um impô.sto sôbre pitai pròpriamonte dito, o imposto nominal.
Considerando todos êstes diversos pontos de vista eloTnento comum, poder-se-á afirmar que o que tem importância, quando se aplica o imposto sôbre o capital, sacrifício permanente dinário feito pelo capital, é um problema do método ou de técni ca fiscal.
o canão um para encontrar um e o ou extraor0 resto TI. Histórico.
As considerações acima provam que o imposto sôbre 0 capital não é uniu abstração financeira e não constitui uma uto pia. Pelo contrário, tontou-se nuiitas vêzes, mesmo nos tem pos mais longín(iuos, pôr em prática esta modalidade de rada. reti-
Guiraud (8) nos fa la de um imposto progressivo sobre os bens, denominado ““ ^ ra”, que tomou Eisphocomo situação sujeita a im postos os bens agríco las, e que foi criado por ocasiâío do 100.0 aniversário das Olimpíadas. C “Eisphora” foi posteriormente esten dido também aos créditos, até no século IV atingiu todo
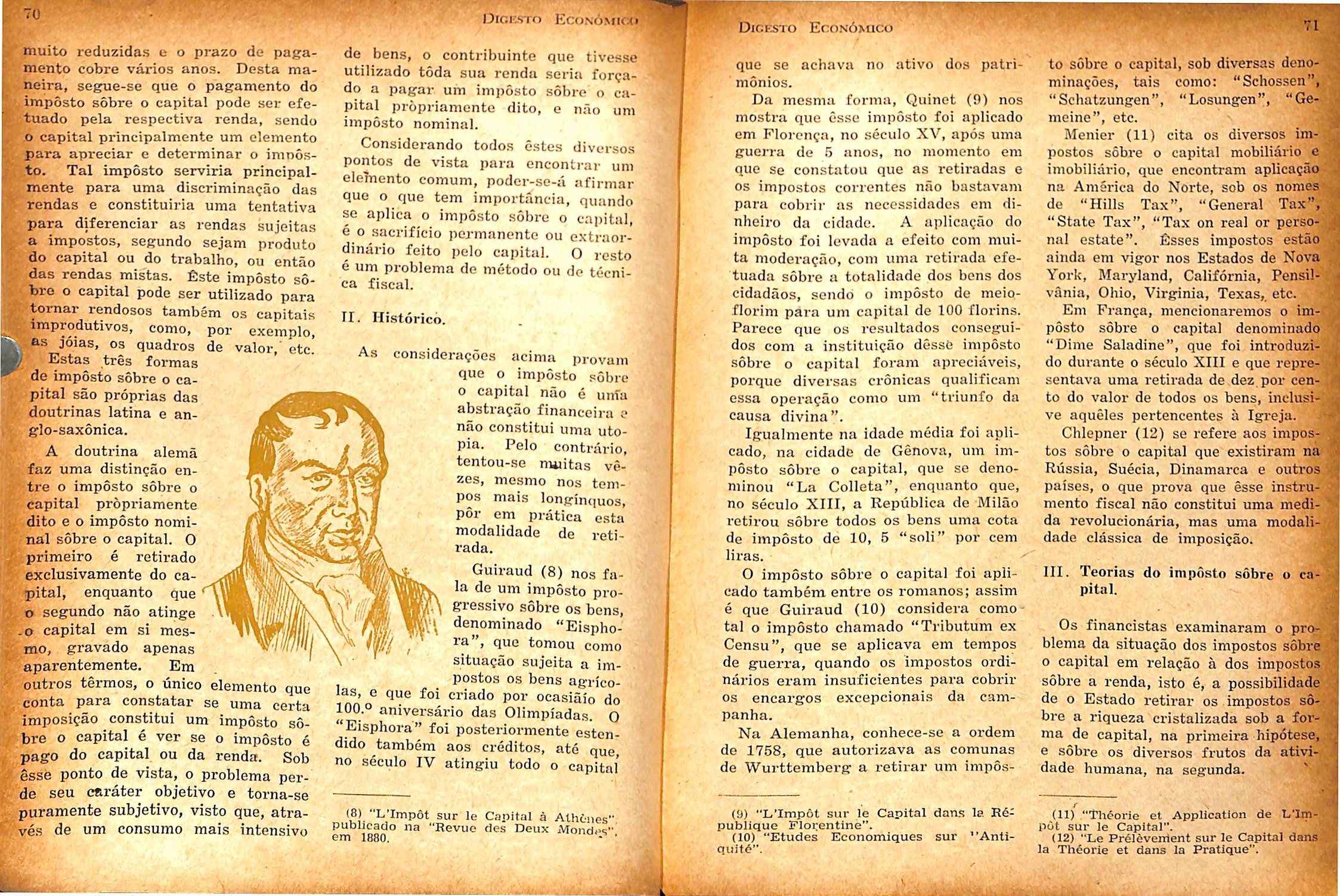
O que, o capital
"I-Tmpôt sur le Capital à Athtnes” publicado na “Revue des Deux ATondt>q" em 1880. '‘juoí.s
Oir.Ksio Kconómk<» Tü
que se achava no ativo dos patri mônios.
Da mesma forma, Quinet (0) nos mosti-a que êsse inipôsto foi aplicado em Plorença, no .século XV, após uma guerra de 5 anos, no momento em que se constatou que as retiradas e os impostos correntes não bastavam para cobrir as necessidade.s em <linheiro da cidade. A aplicação do impôsto foi levada a efeito com mui ta moderação, com uma i*etirada efe tuada sôbre a totalidade dos bens dos cidadãos, sondo o impôsto de meioflorim para um capital de 100 florins. Parece que os resultados consegui dos com a instituição dêssO impôsto sôbre o capital foram apreciáveis, porque diversas crônicas qualificam essa operação como um “triunfo da causa divina".
Igualmente na idade média foi apli cado, na cidade de Gênova, um im pôsto sôbre o capital, que se deno minou “La Colleta”, enquanto que, no século XIII, a República de Milão retirou sôbre todos os bens uma cota de impôsto de 10, 5 “soli" por cem liras.
O impôsto sôbre o capital foi apli cado também entre os romanos; assim é que Guiraud (10) considera comotal o impôsto chamado “Tributum ex Censu”, que se aplicava em tempos de guerra, quando os impostos ordi nários eram insuficientes para cobrir os encargos excepcionais da cam panha.
Na Alemanha, conhece-se a ordem de 1758, que autorizava as comunas de Wurttemberg a retirar um impôs-
to sobre o capital, sob diversas deno minações, tais como: “Schossen”, “Schatzungen”, “Losungen”, “ Gemeine”, etc.
Jlenier (11) cita os diversos im postos sôbre o capital mobiliário e imobiliário, que encontram aplicação na América do Norte, sob os nomes de “Hills Tax”, “General Tax”, “State Tax", “Tax on real or personal ostate”. Êsses impostos estão ainda em vigor nos Estados de Nova York, Maryland, Califórnia, Pensilvãnia, Ohio, Virgínia, Texas,, etc.
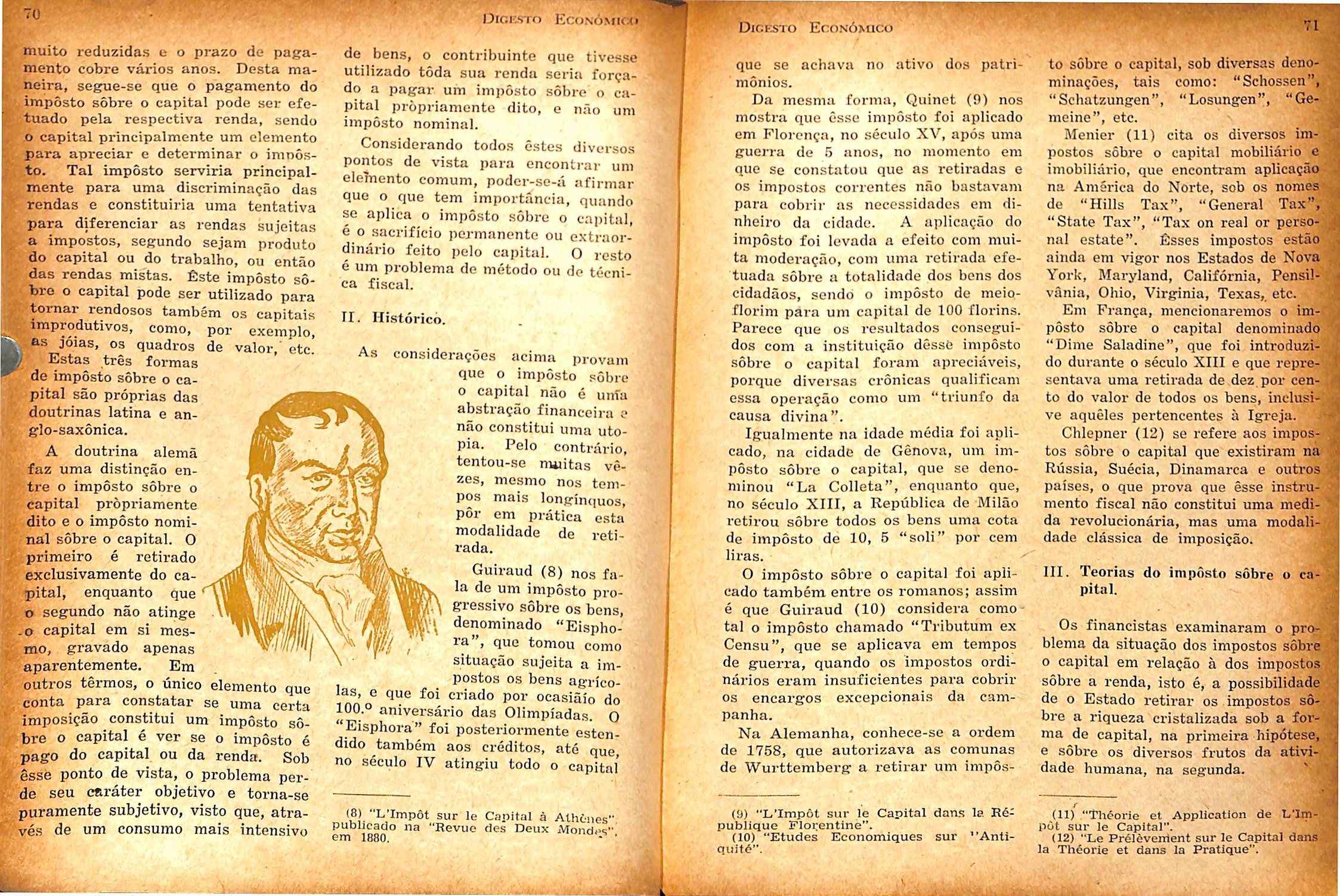
Em França, mencionaremos o im posto sôbre o capita! denominado “Dime Saladine”, que foi introduzi do durante o século XIII e que repre sentava uma retirada de dez por cen to do valor de todos os bens, inclusi ve aqueles pertencentes à Igreja.
Chlepner (12) se refere aos impos tos sôbre o capital que existiram na ● Rússia, Suécia, Dinamarca e outros países, o que prova que êsse instru mento fiscal não constitui uma medi da revolucionária, mas uma modali dade clássica de imposição.
III. Teorias do impôsto sôbre pitni. o ca-
Os financistas examinaram o pro blema da situação dos impostos sôbre o capital em relação à dos impostos sôbre a renda, isto é, a possibilidade de o Estado retirar os impostos sô bre a riqueza cristalizada sob a foi’- . ma de capital, na primeira hipótese, j e sôbre os diversos frutos da ativi dade humana, na segunda. ' I
(ü) “Llmpôt sur le Capital dans la Eépublique Flot;entine”.
(10) “Etudes Economiques sur "Antiquité”.
(11) "nieorie et Application de L'Im- ; pòt sur le Capital’*. '
(12) "Le Prélèvenlent sur le Capital dans la Théorie et dans Ja Pratique”. i
● /*' VI Dict:sio Econ6mk:ü
sao tas que - . ,. ● capital, o problema nao e adotar um afete i-calmentc o patrí- impôsto que mônio do contribuinte, mas apenas considerar o capital como uma base de avaliação do imposto, isto é, uma situação sujeita a. impostos para as contribuições que, em sua maior par te,.serão pagas com as rendas pro duzidas pelo capital. Segundo esta 5 concepção, o imposto sôbre o capital é pôsto em relação direta com o pa trimônio, sem aceitar a idéia de ejuo o Estado, com o mecanismo dos im postos, possa diminuir, absorver ou
autores clássicos aos A. êste respeito, os de opinião que, para os economisaceitam o imposto sobre o

impostos. Walras condena mesinipôsto proKfossivo .sôbve a
mo o renda, considerando cpie tal modali dade i'eprescnta apenas uma utopia dos proírressistas, declarando-se, outrossini, adver.sário das teorias que — sempre seífuntlo sua }>rópria ex— derivam da rotina dos ho- pressão
jjt. mesmo suprimir o capital dos partiHã culares. Mesmo sob esta forma absolutamente tímida, alguns dos clássi’ cos condenaram o imposto sôbre patrimônio e, na maioria dos não aceitaram que o elemento "capi tal” fôsse tomado em consideração sistemas segundo os quais deve-
o casos, ●A > nos
riam ser determinados os impostos, \ ficando os mesmos na estreita dependência da renda e também não con cordaram com 0 que, mais tarde, de signou-se como “faculdades ou podecontributivos”.
, ( res
) Nos fins do século XIX, essa con cepção foi parcialmente abandonada, tendo o imposto sôbre o capital en contrado novos partidários. Assim é Leon Walras, em seu Traité que
h lí et Pratique d’Economie e em dois artigos que se célebres, publicados na Socialiste”, sob o título de
mens de finanças. Segundo sua opi nião, a verdadeira solução .seria re conhecei- que o lí.stadü, como conse quência da situação de um imposto sôbre o capital, deveria tornar-se o único proprietário do solo; e, com êste olijetivo, declara-se mesmo par tidário de uma teoria evolucionista, de acôido com a (jual o Estado res gataria, no prazo de alguns anos, todo o solo. Walras deixa de examinar também o problema da entrega dos outros bens ao Estado, limitando-se à expropriação do solo. Sendo o Es tado o único proprietário do solo, os cidadãos poderiam ficar isentos das princijiais contribuições; êle é do opi nião que, além da economia estatal, e paralela com a mesma, poderia for mar-se outra economia, privada, cujo objetivo seria a atividade econômica fora da agricultura.
Théorique Politique tornaram Revue problèmes Fiscaux”, tra a teoria clássica e recomenda a criação de um domínio pertencente ao ● Estado, que lhe permitiría cobrir suas de manutenção sem apelar .11
(( ergue-sc con- <( despesas
KcoNÓMircí I)rf;h-sTO 72
1
Seguindo a mesma linha de Leon Walras, um dos expoentes mais bri lhantes do método matemático na ciência econômica, encontramos líenri George, o qual, em sua célebre obra “Progress and Poverty”, enunciou nos Estado.s Unidos uma teoria se melhante. A diferença entre os dois sistemas é que o economista ameri ● cano enuncia uma teoria de caráter mais revolucionário que a do autor suíço, iniciando a expropriação sem qualquer indenização para os proprie tários de terras, com a condição de que estes possam guardar a proprie-
clade dos bens mobiliários, assim como os melhoramentos que tivessem in troduzido em suas respectivas terras.
As críticas opostas a esses dois baseadas no fato de cxclusivamente da mais-valia
ilimitada, constituindo, sob varios retorno às teorias pontos de vista, um fisiocratas.
Não se podería contestiu* que tamcssBs doutriiius ü iocin capital se transbém graças a do imposto sôbre formou em teoria e, embora nao fosse levada até os limites enunciados mais acima, isto é, até um resgate ou uma expropriaçao geral do solo, em fayoi do Estado, o imposto sôbre o patnentanto, modali-
o mônio encontrou, no dades de aplicação, tanto em tempos particularmente, em de paz como
tempos de guerra.
No que se refere às épocas de paz, imposto clássico basta mencionar sôbre as sucessões, cujas cotas sao muitas vôzes aumentadas, assim como os direitos de mutaçao que afetam 0 valor do capital transmitido. Enduas formas de imtodas as
o contram-se essas capital om
0
postos sôbre legislações financeiras. ^ sante mencionar também os aiversos visam sobre-
E’ interesimpostos suntuários, que tudo os capitais estéreis e que estão vários países, onde in- em vigor em cidem sôbre jóias, objetos de arte, de luxo, etc. a existênautomóveis, cachorros
A despeito do fato de que cia desses impostos é evidente, sob aspecto da imposição do patrimônio, alguns autores não quiseram admiconsiderar que
o ti
verdadeira avaliação do capital, ronda sujeita a impostos.
O imposto sobre o capital foi apli cado com maior vigor sem que êsse têrmo tenha constituído uma aceita com reticências, ou sido
a noçao
sistemas estão na que se apoiam teoria da renda e na suscetível da interpretação de que elemento capital representa somente possibilidade de uma apreciação ] mais justa da renda sujeita a impos- j tos — nas épocas de guerra e, so- | bretudo, como um meio de líquida- i ção dos ônus financeiros da gueiTa.
A êste propósito, citaremos a obra bastante conhecida do professor Gaston Gòze (13), assim como as obras do professor Victor lescu (14).
o a V. Badura que uma
A teoria contemporânea conside-' retirada extraordinária
sôbre o capital constHui uma moda lidade normal para a liquidação dos encargos financeiros da guerra. En tre essa idéia e aquela segundo a qual imposto sôbre o capital era consi derado como a modalidade fiscal ins tituída com o objetivo social de remo-
o
delar a estrutura econômica, como o tinham pensado os precursores Leon Walras e Henri George, a distância é meno'i* do que aquela que teria de ser percorrida até a aceitação em princípio do imposto sôbre o como um meio generalizado de reti rada para chegar à liquidação dos encargos financeiros da guerra.

capitai
-lo; continuaram a esses impostos não capital, mas constituem apenas odalidade de determinar, pela
visam diretamen¬ te o uma m
(13) ‘‘L‘Impòt Extraordinaire sur le Ca pital comme moyen de líquider les ges Pinancières de la Guerre”. Paris. Giard et Briòre, 1920. (14) "Le Prélèvement Extraordinaire sur le Capital comme Moyen de Liquidation das Charges Financières de la Guerre en Allemagne”. M. Giard, Paris. 1921; LC Prélèvement sur le Capital en Autncne . M. Giard, Paris, 1922; "Le Prélèvement Extraordinaire sur le Capital dans»l^mpire Allemand", M. Giard, Paris, 11)22.
73 E('ONÓMlC‘J DlGliSTO
O impôsto sobre o capital destinuH do à extinção dos encargos da guer^. ra não foi um atributo exclusivo da política financeira seguida pelos paí ses que tinham perdido a última guer— ra. A legislação da retirada extraorjÇ- dinária sobre o patrimônio foi intr ^ duzida também na Itália, embora êsse ijlj país tenha saído vitorioso da primeira guerra mundial; a este respeito, ' é interessante citar a conhecida monopafia do professor Gaston Jèze (15). Embora a Itália tenha saído vitoriosa desse conflito, os encargos financeiros que assoberbavam o go; verno italiano, cujos departamentos i, economicos eram dirigidos por eco\ nomistas reputados, tornaram neces sária a imposição do patrimônio o exemplo da Itália foi imediatamente imitado, sobretudo pelos ses da Europa central e oriental, . de a inflação, praticada durante R guerra,, tinha destruído a moeda e '.L. impedia a realização de um orçamento equilibrado. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Rumânia, a Áustria e, JÍ especialmente, a Alemanha, adotaran’ ;’v leis que visavam também transferir para o capital o encargo fiscal, que pesava sobretudo sobre a renda.
que SC achavam empenhados no con flito armado.
IV. Justificativa do iiniiôslo sôbre o capital.
o( Wr: paíona
Os partidários da teoria do impôs to sôbre o capital invocam, em favor desta mecânica fiscal, os argumentos seguintes:
Os impostos sôbre a renda, com as modificações feitas na legislação com petente, após a e.xperiência guida com sua aplicação e em relação com as necessidades oi’çamentárias, que provocaram flutuações nas cotas e nas modalidades da determinação da renda ou do estabelecimento de impostos, demonstraram que existem ainda possibilidades "tros elementos do
giiüiTa mais rí em ir'' y
Durante e após a sogundq mundial, o fenômeno se tornou geral ainda. Não consideramos apeW nas o aspecto doutrinário do proble,1. ma (J. M. Keynes (16) também se declarou partidário desta mecânica fiscal), mas igualmente seu lado teó-‘ rico, isto é, as realizações efetivas quase todas as legislações dos países
consepara taxar oupatrimônio, que tais impostos não conseguiam atincategoj'ia pertencem: móveis, as coleções do arte, as jóias e, particularmente, a mais-valia dos imóveis construídos ou não-construídos, sobretudo nas cidades, como con sequência direta do aumento da po pulação nesses centros. A mais-valia é evidente no que concerne aos terrenos nao-constriiícloa, que bora rçpresentem capitais estéreis, dao aos titulares mais-valias muitas vezes excepcionais.
os oniO impôsto sôbre
a renda, que não atinge estes elemen tos do patrimônio, é considerado ina dequado, insuficiente e su.scetível de ser substituído com mais eficácia, tendo em vista uma justiça fiscal mais equitativa, por um imjjôsto so bre 0 capital. ít.lí: (15) "LTmpôt Extraordinaire sur Je Ca●t' pitai en Italle", publleado por Giard. I’ui ris, em 1920.
(16) “Théorie Génerale de TEmploi de I 1'interêt et de Ia Monnaie”. Payot, Paris, if.. 1949, pág. 387.
Outro argumento enunciado . . . para 'justificar o impôsto sôbre o capital é que 0 mesmo é considerado como uma contribuição eminentemente de-
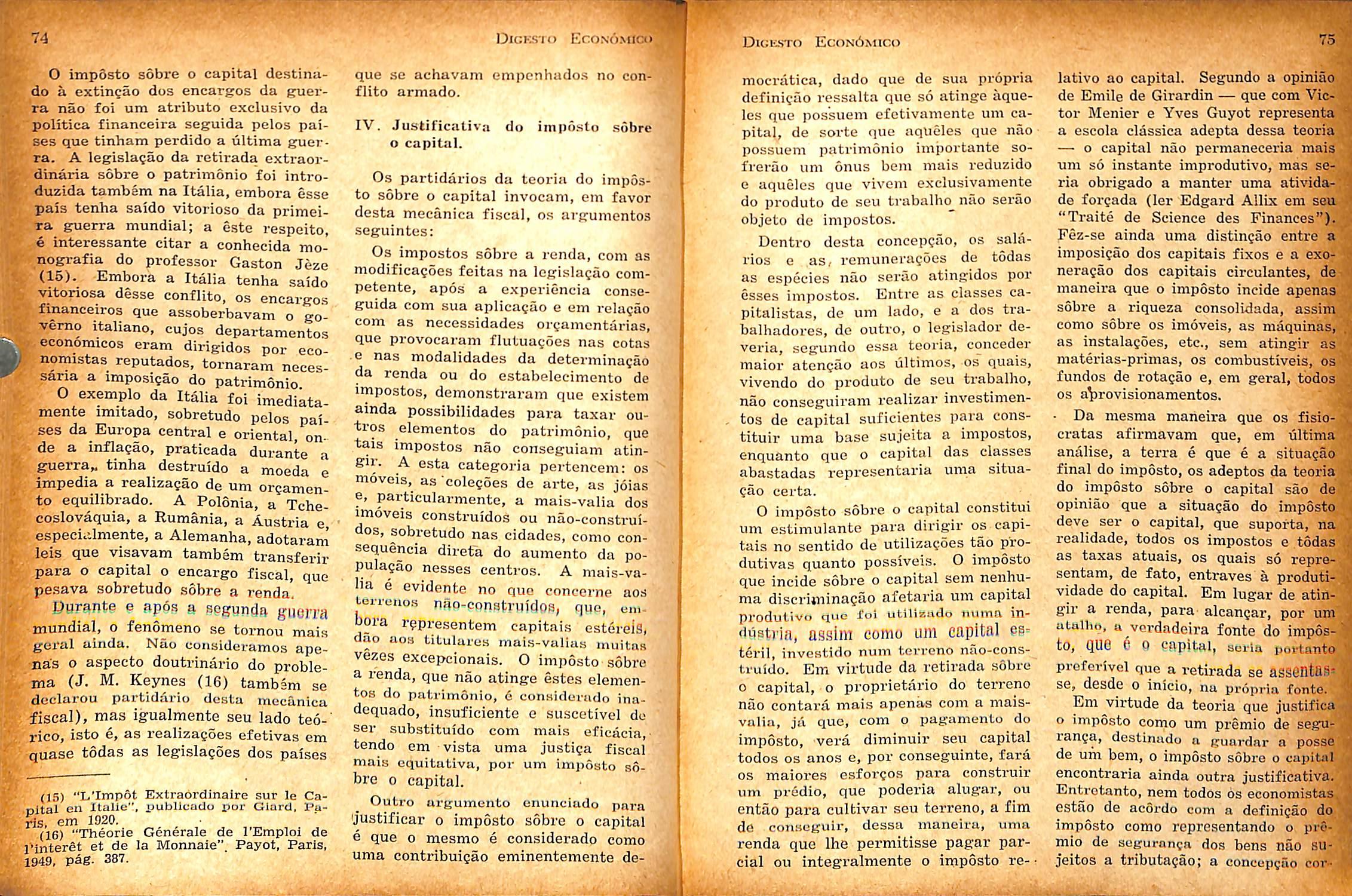
,T■ 74 l^ICKSIO KCONÓMiro^ r
ik
niocrãtica, dado que de sua própria definição ressalta que só atinge àque les que possuem efetivamente um ca pital, de sorte (jue aqueles que nao patrimônio importante so bem mais reduzido possuem frerão um ônus e aqueles que vivem exclu.sivamente do produto dc seu trabalho nao sei*ão objeto de impostos.
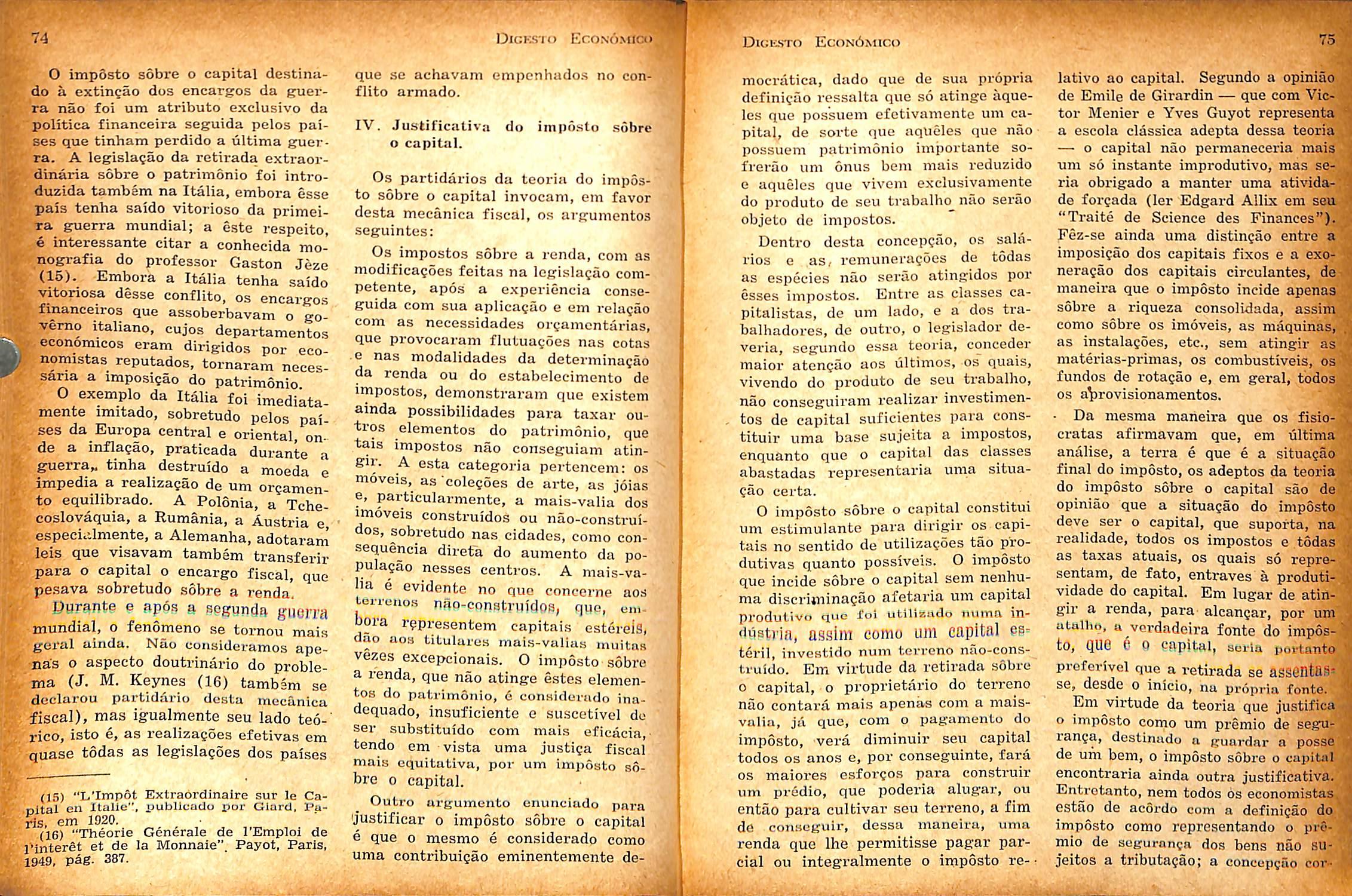
Dentro desta concepção, os saláde todas nos e as. remunerações as espécies não serão atingidos por êsses impostos, pitalistas, de um lado, e a dos tra balhadores, do outro, o legislador de veria, segundo essa teoria, conceder maior atenção aos últimos, os quais, vivendo do produto de seu trabalho, não conseguiram realizar investimen tos de capital suficientes para cons tituir uma base sujeita a impostos, enquanto que o capital das classes abastadas representaria ção certa.
lativo ao capital. Segundo a opinião de Emüe de Girardin — que com Vic* tor I\Ienier e Yves Guyot representa a escola clássica adepta dessa teoria — o capital não permanecería mais um só instante improdutivo, mas se ria obrigado a manter uma ativida de forçada (ler Edgard Allbc eni seu “Traité de Science des Finances”).
Fez-se ainda uma distinção entre a imposição dos capitais fixos e a exo neração dos capitais circulantes, de maneira que o imposto incide apenas sôbre a riqueza consolidada, assim como sôbre os imóveis, as máquinas, as instalações, etc., sem atingir as matérias-primas, os combustíveis, os fundos de rotação e, em geral, todos os a^rovisionamentos.
Entre as classes cauma situa11 m truido. valia, já que, com o impôsto, verá
O impôsto sôbre o capital constitui estimulante para dirigir os capi tais no sentido de utilizações tão pro dutivas quanto possíveis. O impôsto que incide sôbre o capital sem nenhu ma discriminação afetaria um capital produtivo (pic ft>i iiülíy.ivilo muna in dústria, üsaim como um capital es téril, investido num terreno nao-consEin virtude da retirada sôbre o capital, o proprietário do terreno não contará mais apenas com a maispagamenlü do diminuir seu capital
os maiores
a guardar a posse de um bem, o impôsto sôbre o cujiital encontraria ainda outi^a justificativa. Entretanto, nem todos os economistas estão de acordo com a definição do impôsto como repre.sentando o prê mio de segurança dos bens não su jeitos a tributação! a concepção cor¬
● Da mesma maneira que os fisiocratas afirmavam que, em última análise, a terra é que é a situação final do impôsto, os adeptos da teoria do impôsto sôbre o capital são de opinião que a situação do impôsto deve ser o capital, que suporta, na realidade, todos os impostos e tôdas as taxas atuais, os quais só repre sentam, de fato, entraves à produti vidade do capital. Em lugar de atin gir a renda, para alcançar, por um utulho, H verdadeira fonte do impôs to, llllG 0 capital, auritt iMíVtíinto profovível que a retirada se asscnlufi^ se, desde o início, nu própria fonte. Em virtude da teoria que justifica o impôsto como um prêmio de segu rança, destinadi todos os anos e, por conseguinte, fará esforços para construir um prédio, que podería alugar, ou então para cultivar seu terreno, a fim de conseguir, dessa maneira, uma renda que lhe permitisse pagar par cial ou integralmente o impôsto re- ●
75 Duíb-STO Econômico
rente sôbre a natureza dos impostos é mais ampla e exorbita dessa inter pretação, reduzia a uma só das múl tiplas explicações da existência dêsse instrumento fiscal.
A retirada sôbre o capital é con siderada como representando a ij^ualdade em matéria de impostos, já que todos os contribuintes que têm o mescapital estarão sujeitos a impos tos de maneira igual. mo o que não é
o caso sob o regime do imposto sôbre a renda, em que os capitais equiva lentes podem produzir rendas diferenversos
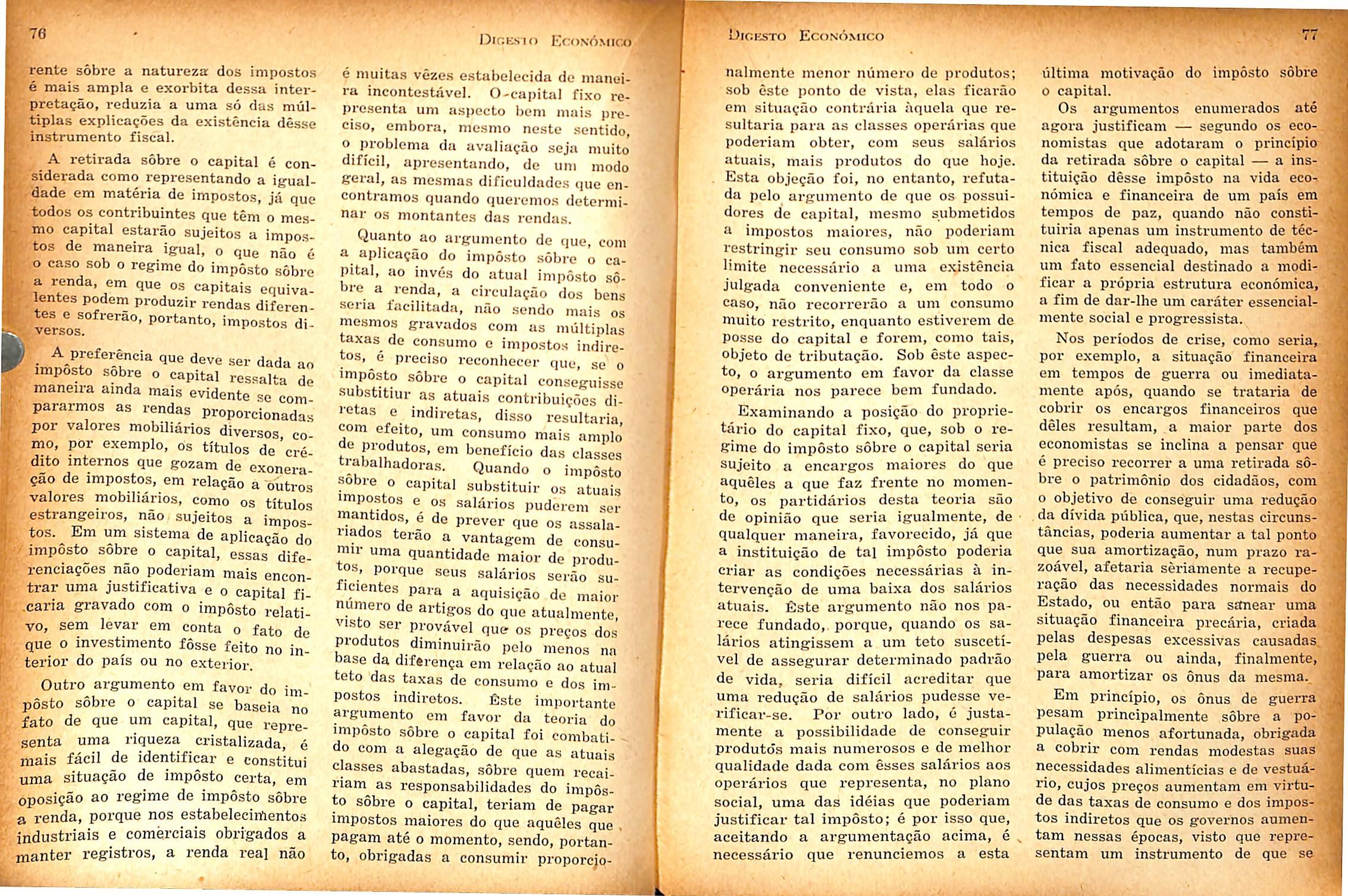
A preferência que deve imposto sôbre ser dada . o capital ressalta de maneira ainda mais evidente pararmos as rendas
é muitas vêzes estabelecida do manei ra incontestável. O-capital fixo repre.senta um aspecto bem ciso, embora. mais premesmo neste sentido, o problema da avaliação seja muito difícil, apresentando, de um modo
çeral, as mesmas dificuldades iiue en contramos quando queremos determi nar os montantes das rendas.
Quanto ao argumento de (jue, com a aplicação do impô.sto .sôbre o ca pital, ao invés do atual imposto sô bre a renda, seria facilitada, mesmos gravados taxas de
circulação dos bens nao .sendo a mais os as múltiplas consumo c impostos indire
e preciso reconhecer imposto sôbre sub.stitiur
ao se comPropoi*cionada e indiretas, disso resultaria s por valores mobiliários diversos co mo, por exemplo, os títulos de’cré dito internos que gozam de exonera ção de impostos, em relação valores mobiliários, estrangeiroS;
a outros como os títulos nao sujeitos a impos
com tos. que, se o o capital conseguisse as atuais contribuições di
retas com efeito, , um consumo mais amplo benefício das classes nabalhadoras. Quando sobre o capital substituir imposto o os atuais os salários puderem ser mantidos, é de prever riados terão
impostos e que os assalaa vantagem de consu tos. Em um sistema de aplicação do imposto sôbre o capital, essas dife niaior de produPorque seus .salários serão suaquisição de maior que atualmente. para a
mir uma quantidade tos, ; ficientes renciações não poderíam mais encon trar uma justificativa e o capital fi número de artigos do visto ser provável que os preços dos piodutos diminuirão pelo menos na base da diferença em relação ao atual teto das taxas de postos indiretos. consumo e dos imÊste importante
.cana gravado com o imposto relati vo, sem levar em conta o fato de que 0 investimento fôsse feito terior do país ou no exterior. no inargumento em favor da teoria do imposto sôbre o capital foi combati do com a alegação de que as atuais
imno que repreuma classes abastadas, sôbre quem i*ecairiam^ as responsabilidades do impos to sôbre o capital, teriam de impostos maiores do que aqueles pagar : que
em
oposição ao regime de imposto sôbre a renda, porque nos estabelecimentos industriais e comerciais obrigados a manter registros, a renda real não .
pagam até o momento, sendo, portan to, obrigadas a consumir proporcio-
76 Dir.nsio Kí í)xóníic()
Outro argumento em favor do i pôsto sôbre o capital se baseia fato de que um capital, senta uma riqueza cristalizada, é mais fácil de identificar e constitui situação de imposto certa,
a
nalmcnte incMior número de produtos; sob èste ponto de vista, elas ficarão em situavão contrária àquela que re sultaria para as classes operárias que poderíam obter, com seus salários atuais, mais produtos do que hoje. Esta objeção foi, no entanto, refuta da j)elo aríTumento de que os possui dores de caiiital, mesmo submetidos impostos maiores, não poderíam restrinííir seu consumo sob um certo limite necessário a uma existência julíçada conveniente e, em todo o caso, não recorrerão a um consumo muito restrito, enquanto estiverem de posse do capital c forem, como tais, objeto de tributação. Sob êste aspec to, o arg'uniento em favor da classe operária nos parece bem fundado. Examinando a posição do proprie tário do capital fixo, que, sob o reírime do imposto sôbre o capital seria sujeito a encargos maiores do que uquêles a que faz frente no momen to, os iiartidários desta teoria são tio opinião que seria igualmento, de qualquer maneira, favorecido, já que a instituição de tal imposto poderia criar as condições necessárias à in tervenção de uma baixa dos salários atuais. Êste argumento não nos parece fundado, porque, quando os sa lários atingissem a um teto suscetí vel de assegurar determinado padrão de vida, seria difícil acreditar que uma redução de salários pudesse vorificar-se. Por outro lado, é justa mente a possibilidade de conseguir produtô.s mais numerosos e de melhor qualidade dada com esses salários aos operários que representa, no i>lano social, uma das idéias que poderiam justificar tal imposto; é por isso que, aceitando a argumentação acima, 6 necessário que renunciemos a esta
última motivação do imposto sôbre o capital.
Os argumentos enumerados até agora justificam nomistas que adotaram o princípio da retirada sobro o capital tituição dêsse imposto na vida eco nômica e financeira de um país em tempos de paz, quando não constituiria apenas um instrumento de téc nica fiscal adequado, mas também um fato essencial destinado a modi ficar a própria estrutura econômica, a fim de dar-lhe um caráter essencial mente social e progressista.
segundo os ecoa inscriada
Nos períodos de crise, como seria, por exemplo, a situação financeira em tempos de guerra ou imediata mente apôs, quando se trataria de cobrir os encargos financeiros que deles resultam, a maior parte dos economistas se inclina a pensar que é preciso recorrer a uma retirada sô bre o patrimônio dos cidadãos, com o objetivo do conseguir uma redução da dívida pública, que, nestas circuns tâncias, poderia aumentar a tal ponto que sua amortização, num prazo ra zoável, afetaria sòiáamente a recupe ração das necessidades normais do Estado, ou então para sanear uma situação financeira precária, pelas despesas excessivas causadas pela guerra ou ainda, finalmente, para amortizar os ônus da mesma.
Em princípio, os ônus de guerra pesam principalmente sôbre a po pulação menos afortunada, obrigada a. cobrir com rendas modestas suas necessidades alimentícias e de vestuá rio, cujos preços aumentam em virtu de das taxas de consumo e dos impos tos indiretos que os governos aumen tam nessas épocas, visto que repre sentam um instrumento de que se
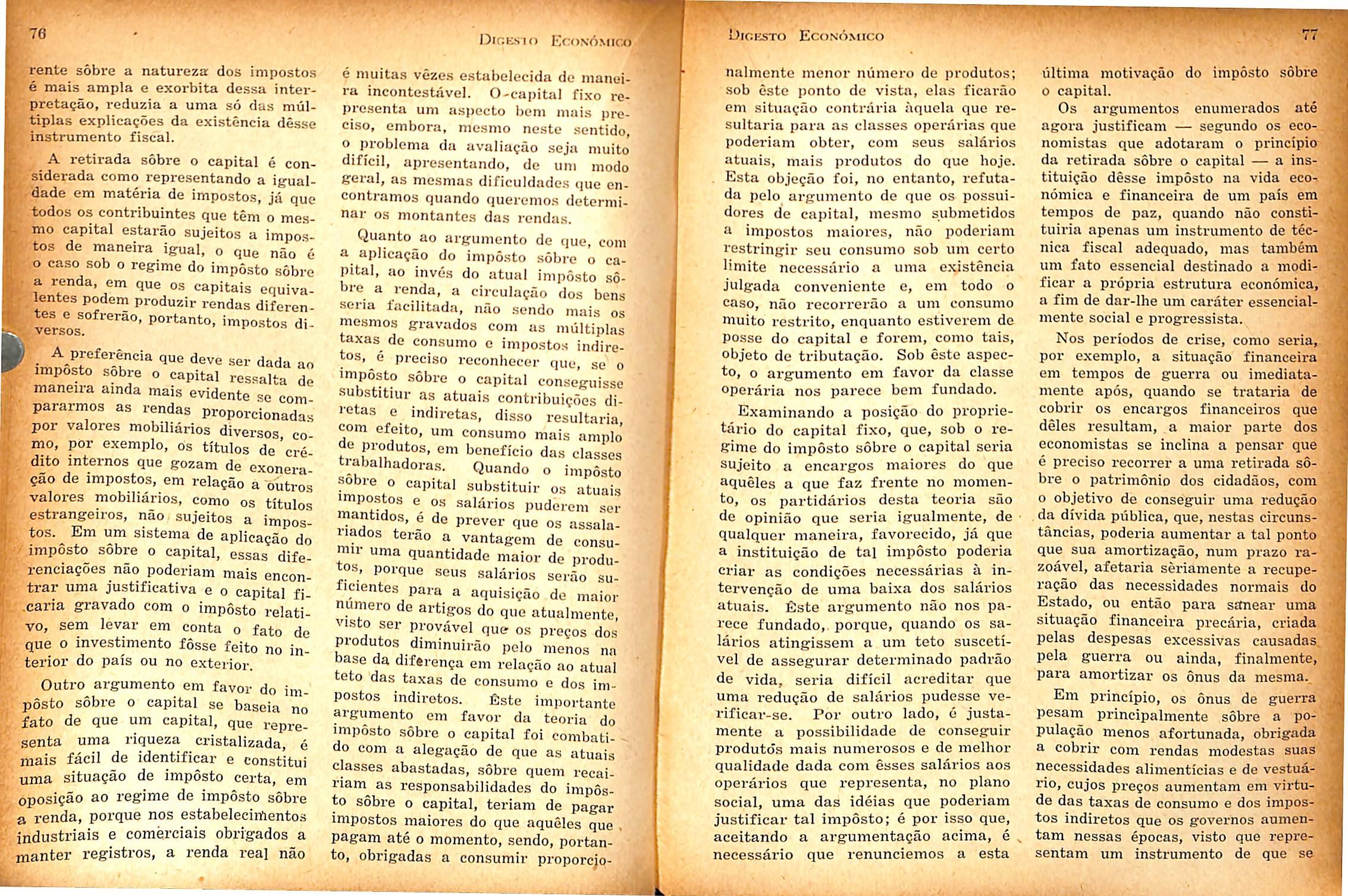
í.)íc:iúSTO Econômico 4 I
pode lançar mão com facilidade, pro porcionando um rendimento grande e imediato. Por outro lado, as clas ses ricas — quer multiplicando o va lor de seus investimentos, com o jôgo da mais-valia, quer fazendo especu lações industriais ou comerciais conseguem, durante as épocas de guerra, acumular fortunas ejue, ao contrário do que acontece com as clas ses operárias ou menos afortunadas, acentuam o desequilíbrio social, dese quilíbrio que podería ter uma solu ção equitativa através da aplicação do um impôsto sôbre o capital.
V. Argumentos sôbre o capital. contra o impôsto
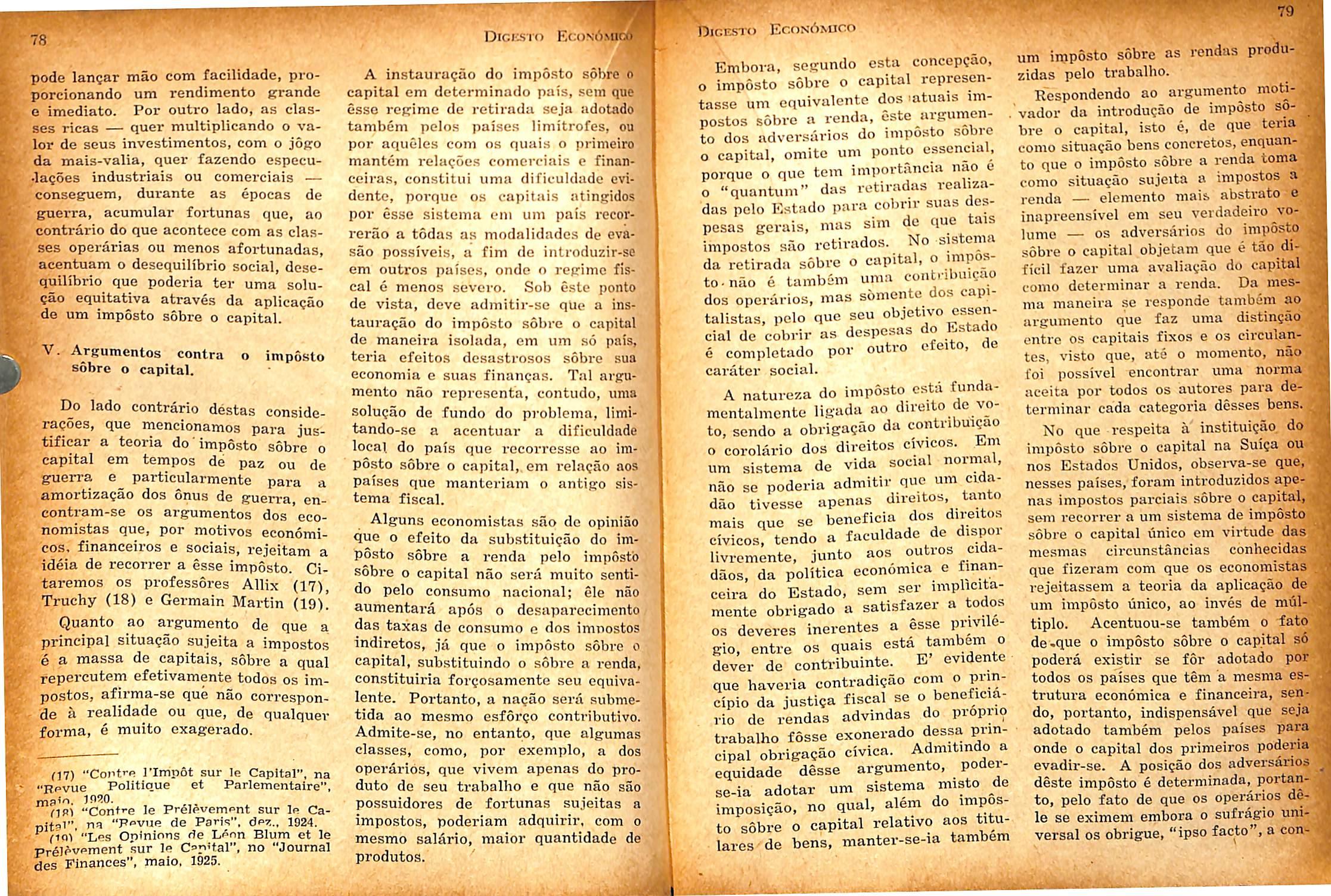
Do lado contrário destas rações, que mencionamos para jus tificar a teoria do impôsto sôbre capital em tempos de guen-a e particularmente amortização dos ônus de
conside 0 paz ou d guerra, en
e para a contram-se os argumentos dos nomistas que, por motivos econômi cos, financeiros e sociais, rejeitam a idéia de recorrer a êsse impôsto. Ci taremos os professores Allix (17), Truchy (18) e Germain Martin (19)! CJuanto ao argumento de
ecoque a principal situação sujeita a impostos é a massa de capitais, sôbre a qual repercutem efetivamente todos postos, afirma-se que não correspon de à realidade ou que, de qualquer forma, é muito exageiado.
os imn?) “ContT-e l’Impôt sur Ir Capital”, na Politlque et Parlementaire", “pRVue ma’''. nsi ”Cont»-e le PrélévemRnt sur 1p Cap<»vuR de Paris”. df‘z„ 1924. ●njtal”, na noi "Les Oninions de Blum et le ●prí^lévRment sur le no “Journal ^ ●● maio. 1925. des Finances
A instauração do imposto sobre o capital em determinado país, sem que êssc roírlmc de j‘etirada seja adotado também pelos países limítrofes, ou por aqueles com os quais o i)rimeiro mantém relações comerciais o finan* ' ceiras, constitui uma dificuldade evi* ' dente, porque os capitais atinpridos por êsso sistema toii um país recor rerão a todas as modalidades de eva são possíveis, a fim de introduzir-se em outros países, onde o reprime fis cal é menos severo. Sob ê.ste ponto de vista, deve admitir-se que a ins tauração do imposto sôbre o capital dc maneira isolada, em um só pais, teria efeitos desastrosos sôbre sua economia e suas finanças. Tal arp;umento não representa, contudo, uma solução do fundo do pj-oblema, Hmitando-so a acentuar a dificuldnde locat do país que rocorrosse ao im posto sôbre o capital, em relação aos países que manteriam o antipro sis tema fiscal.
Alguns economistas são dc opinião que o efeito da substituição do im posto sôbre a renda pelo imposto sôbre o capital não será muito senti do pelo consumo nacional; êle não aumentará após o desa]>arecimonto das taxas de consumo e dos imnostos indiretos, já que o imposto sôbre o capital, substituindo o sôbre a renda, constituiría forçosamente seu equiva lente. Portanto, a nação será subme tida ao mesmo esforço contvibutivo. Admite-se, no entanto, que algumas classes, como, por exemplo, a dos operários, que vivem apenas do pro duto de seu trabalho e que não são possuidores de fortunas sujeitas a impostos, poderíam adquirir, com o mesmo salário, maior quantidade de produtos.
■ l)iGi-si'o ^'c:o^●^VMlo6 78
\
1^
as rendas produ- impôsto sobre zidas pelo trabalho. um Embora, segundo esta concepção, o imposto sôbre o capital represenoíiuivalcnte dos 'atuais imrenda, êstc argumentasse um postos sobro
argumento moti- Respondendo ao ^ vador da introdução de imposto sobre o capital, isto c, de que tena situação bens concretos, enquana renda toma
_ ^ to dos advcr.<ários do imposto sobre o capital, omite um ponto essencml, como ^ ^ imiMirt-incia não e to que o imposto sobie poi^uo « nuo tem nniK^ a o “quantum das ,.^.„da — elemento mais abstrato e das pelo ■ , tais inapreensivel em seu verdadeiro vopesas gerais, mas s.m do i do imposto impostos sao retirados. N ● ^ capital objetam que é tão dida retirada sôbre o J { fícil fazer uma avaliação do capital to-não é lambem uma co ^ determinar a renda. Da mesdüs operários, mas ma maneira se talistas, pelo que sou objetno essen cial dc cobrir as despesas do _I*^stac o é completado por outro efeito, dc caráter social.
a ve.sponde também ao faz uma distinção argumento que entre os capitais fixos e os circulan tes, visto que, até o momento, não t'oi possível encontrar aceita por todos os autores para de terminar cada categoria desses bens.
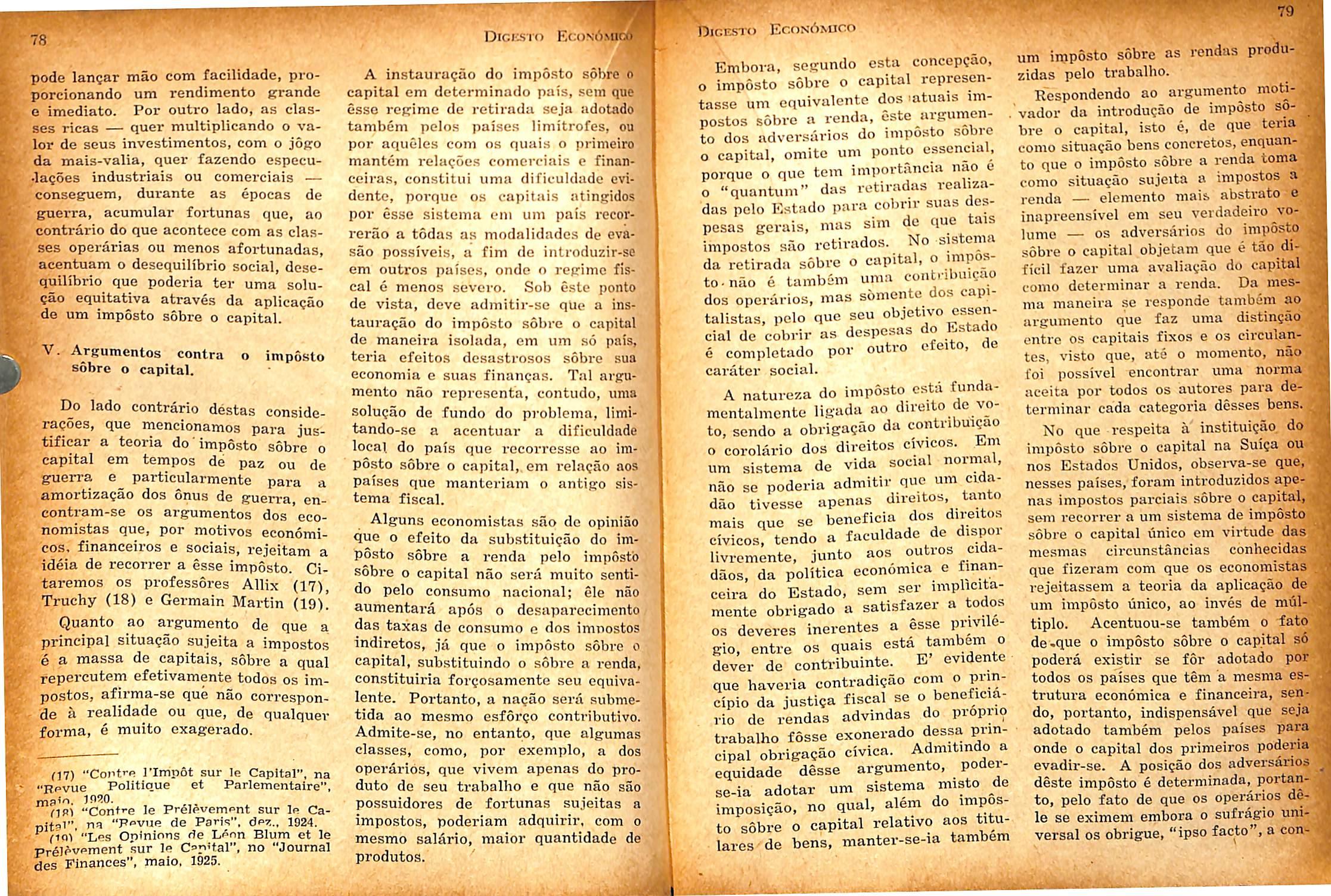
do imposto está fundadireito dc vodu contribuição Em
não se poderia . dão tivesse apenas direitos, tanto mais que se beneficia dos ^”'eitos cívicos, tendo a faculdade de dispoi livremente, junto aos outros cida dãos, da política economica e finan ceira do Estado, sem ser implicita mente obrigado a satisfiy/-er a todos os deveres inerentes a êsse piiM c is está também o E’ evidente gio, entre os quais dever de contribuinte,
uma norma nos
A natureza mentalmente ligiuUv ao to, sendo a obrigaçao o corolário dos direitos cívicos, sistema de vida social normal, um cidaum admitir que nesses países, foram introduzidos ape nas impostos parciais sôbre o capital, sistema de imposto sem recorrer a um
No que respeita a instituição do imposto sôbre o capital na Suíça ou Estados Unidos, observa-se que,
o
sôbre o capital único ein virtude das mesmas circunstâncias conhecidas que fizeram com que os economistas rejeitassem a teoria da aplicação do um imposto único, ao invés do múl tiplo. Acentuou-se também o fato de-que o imposto sôbre o capital só poderá existir se fôr adotado por todos os países que têm a mesma trutura econômica e financeira, sen do, portanto, indispensável que soja adotado também pelos países para onde o capital dos primeiros poderia evadir-se. A posição dos adversários deste imposto é determinada, portan to, pelo fato de que os operários de le se eximem embora o sufrágio uni versal os obrigue, “ipso facto”, a con-
esque havería contradição com o pvm- ● beneficiacípio da justiça fiscal se rio dc rendas advindas do proprio trabalho fôsse exonerado dessa prin cipal obrigação cívica. Admitindo a equidade dêsse argumento, podey se-ia adotar um sistema misto de imposição, no qual, além o impos to sôbre o capital relativo aos titu lares de bens, manter-se-ia também
T9 Econômico Dicksto
ciais, contém em si mesma o permc de sua própria destruição. tribuir também para os ônus do Es tado; de que este imposto represen taria, em última análise, igualmente, medida de confisco lento da pro- uma
priedade rural e urbana, em favor do Estado; e que tal imposto só pode ser instituído em vários países ao mesmo tempo.
É interessante acentuar que êstes argumentos poderíam ser resumidos em um só inconveniente de principio, menos de natureza técnico-fiscal do que política.
Os economistas que não se recusa» a adotar a teoria do imposto ram sôbre o capital como meio de amorti zação das dívidas de guerra, tiveram de reconhecer (lue implica num confisco ([uase completo de tôdo a renda dos cidadãos por certo espa-
ao menos
ço de tempo.
Assim é (jue o i)iofessor Luigi Einaudi, adepto da teoria da imposição do capital, em um estudo sôbre os A maior objeção contra a introdu- efeitos do decreto-lei italiano de 24 ção de uma legislação instituindo imposto sôbre a fortuna, está baseada, um ► portanto, na transformação da estr tura social que tal reforma poderia provocar.
de novembi’0 do 1910, demonstra que, segundo um cálculo aproximativo, pa ra satisfazer às prescriçõe.s desta lei, os contribuintes deveri .m pagar, num piazo do 30 anos, por um patrimônio

uPodemos muito bem nós, de cem milhões de liras, 91, da os crentes, transformar completamen te a argumentação: tal imposto será renda das casas, 94, 93*/^ da renda das a válvula de segurança do regime pitalista atual, sacrificando às neces sidades da coletividade o excedente da fortuna privada que ultrapassar to limite socialmente aceitável. A ati tude de estrita rigidez por parte dos ortodoxos fiscais, colocados nas posi ções clássicas dos impostos sôbre a renda e que impedem que a pressão fiscal se estenda sôbre tôda a fortu-
na privada (excluindo ou favorecendo capital), é anti-social, porque não é équitativa. Êstes fiscalistas apoiam peso existente e se opõem a uma ampliação da situação fiscal; recu sam-se a conter a pressão fiscal, ca da vez maior, sôbre as rendas, para não atingir um elemento social, que declaram sagrado, mesmo em suas formas mais anti-sociais, como aconfortunas privadas inter-
o o tece com as nacionais. Esquecem-se de uma coisa essencial, isto é, que a propriedade privada, sem funções e limites so-
torras, 08,909/ da renda industrial ou comercial, etc., o que reiíresenturia um ônus muito pesado para ser su-
cacerVI. Imposto KÓbre o capital ou empréstimo.
● portado permanentemente. cípio do imposto sôbre a renda, tendo 0 imposto sôbre o capital apenas aplicações parciais, sobretudo duran te as épocas de crise, quando a dívi da pública é tão elevada que um au mento só poderia ser visado pelos técnicos responsáveis pela política fi nanceira do Estado, ou então durante as épocas em que as crises ou a guer ra exigem um número de despesas extraordinário, que só se poderia co brir de maneira corrente com o ren dimento normal dos impostos sôbre
As legislações fiscais atuais es tão baseadas esseneialmonte no prin
As únicas exceções são o a renda.
Di(;Ksto Económicx) 8ü
I e os direitos de corolário, o impôsimpôsto de sucessão mutação, com seu tb sôbve o equivalente que, embora sendo verdadeiros impostos sôbre o capital, foram, no entanto, admitidos junto aos outros impostos sobre renda por todas as legislações fiscais. Nenhum outro imposto sôbre o paexiste de maneira corrente econômico capitalista,
a trimônio em um regime a não ser em épocas anormais, quan do se manifestam necessidades orça mentárias insuficientemente cobertas polas rendas ordinárias do Estado. So mente quando a política social se imde maneira mais vigoro.sa e que também a manifestar-se os do imposto sôbre o capi-
0 professor Nitti declarou-se, des de 1919, adversário irredutível de un« imposto extraordináno sobre o capi tal, em discurso célebre, proferido no Senado, no qual demonstrou as difi culdades que se seguiriam à interven ção dos órgãos fiscais em cada caso, para constatar o valor real do patri- ’ mônio. As dificuldades de aplicação dêsses dispositivos legais eram con-

A despeito , meados do ano de. 1919, sideradas insuperáveis. disso, nos
poe começam partidários
ças do pais.
o mesmo professor Nitti aceitou a . idéia de uma retirada sôbre o capital, dívida duplo efeito: reduzir a com pública da Itália, que nessa época muito elevada, e sanear as finan- era tal. Portanto, é cm tempo do guerra, e sobretudo durante as épocas subse quentes ã cessação das hosti idades, tlue surgem as retiradas extraordi nárias sôbre o capital, (lue
cobrir as despesas e
servem ao Estado para os ônus causados pela guerra.
A Comissão de Estudos presidida pelo ministro das Finanças, Tedesco, formada exclusivamente de adversá rios daclarados do imposto sôbre o capital, pronunciou-se contra tal im posto, fazendo uma primeira propos ta para a situação do um imposto extraordinário progressivo fortunas conseguidas com benefícios^ sôbre as
Nem mesmo nessas épocas, todavia, economistas entraram num acorfazer uso do os do sôbre se é preciso de guerra, e uma segunda proposta, sugerindo que, em lugar de um impôsto geral extraordinário sôbve capital, se recorresse a um emprés timo compulsório, com pequeno inte resse (eventualmente mesmo, Ü.SOVc)» reembolsável num prazo tão longo quanto possível, indo mesmo até <50 ou 100 anos.
imposto sôbre o capital ou se e pre ferível recorrer de maneira amda mais vigorosa a empréstimos. se limi- Tal controvérsia, que nao tou a uma discussão puramente teoItália, no fim da rica, teve lugar na guerra anterior; já que as condiçoes sob as quais se podería cog’tai *ia plicaçâo de tal impôsto .são semiiro semelhantes, com muito poucas dife renças e, por conseguinte, as mesmas que existiam naquele tempo na Italia, mencionaremos algumas das disverificadas a respeito das duas leis italianas pai*a a imposição de 24 de novembro
a cussoes do patrimônio: a
A rejeição de um imposto gerai sôbre o capital fundamentava-se nos mesmos argumentos enunciados outrora pelo professor Nitti e aos quais ' fal-
0 renunicara depois
, isto é, que, a ta de um cadastro de todos os bens, o pessoal do Ministério dás Finanças estava suficientemente prepara do para uma operação de tal enverganao de 1919 e a de 22 de abril de 1920.
81* Económuu) Dicjcsto
dura, como deveria ser a avaliação de toda a fortuna que se encontra-
fT va no país.
J F’oi recomendado o empréstimo compulsório, com a alegação de que, i; desta maneira, a sensação desagradáf/vcl de um confisco dos bens seria K atenuada com o sentimento dos subsL critores de que êles mesmos, f● sucessores, entrariam um dia ou seus na post se do capital entregue; no que se reP fex*e aos resultados propriamente ditos dêsse empréstimo, dadas as difií culdades inerentes de
. _ uma primeira aplicação de um imposto substancial i sôbre o capital, acreditava subscrições -se que as ao empréstimo supei*a nam o montante dos impostos que o Estado poria em caixa com uma retirada sôbre o capital. [. Estas constatações foram
>●●● comba- S r ■ y 1^. guerra as 4.
● tidas pelo professor Benvenuto Gri^ ziotti, em duas monografias (20) onde são enumerados os seguintes ^ argumentos em apoio da imposição extraordinária do capital: p Em primeiro lugar, é pôsto em re^ lêvo o fato de que a retirada sôbre o capital resulta, necessàriamente de motivos políticos e de ordem social, visto que importantes ônus de í tinham sido suportados pelas classes pobres e só podemos considerar classes mais afortunadas como efetiva e economicamente beneficiárias V. da guerra. E’ necessário, portanto, que o equilíbrio social seja^ consegui do também com sacrifício dos capi< ● talistas.
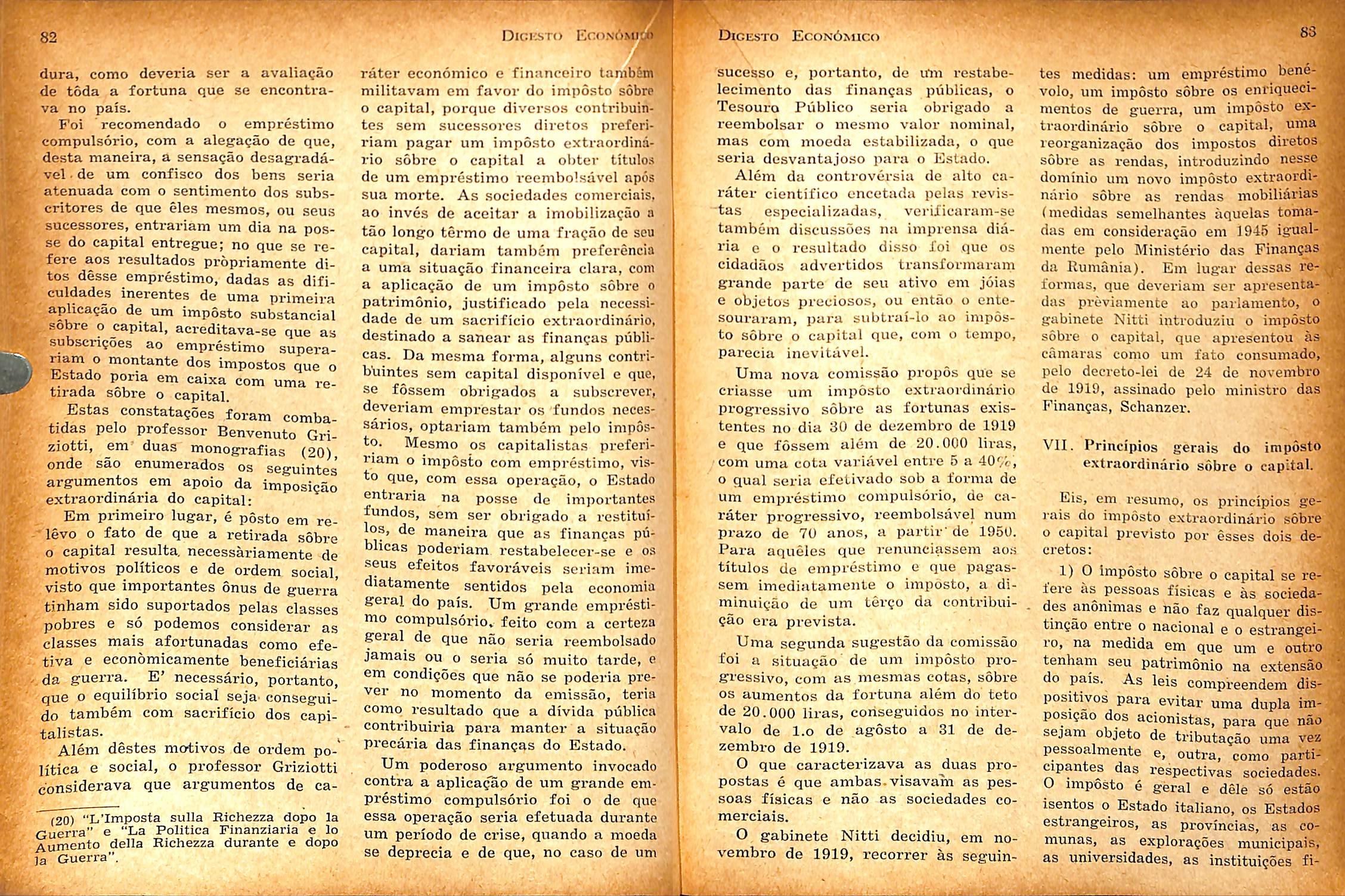
ráter econômico e financeiro também militavam em favor do imposto sôbrp o capital, porque diversos contribuin tes sem sucessores diretos pi^efeririam paçar um imposto extraordiná rio sobre o capital a obter títulos de um empréstimo reembolsável após sua morte. As sociedades comerciais, ao invés de aceitar a imobilização a
tão longo termo de uma fração de seu capital, dariam também preferência a uma situação financeira clara, coin a aplicação de um imposto sôbre o patrimônio, justificado pela necessi dade de um sacrifício exti*aoi‘dinârio, destinado a sanear as finanças públi cas. Da mesma forma, alguns contri buintes sem capital disponível e que, fossem obrigados u subscrever, deveriam emprestar os fundos neces sários, optariam também pelo impôsMesmo os capitalistas preferi ríam o imposto com empréstimo, vis to que, com essa operação, o Estado entraria
se to. na posse de imjiortantcs
fundos, sem ser obrigado u restituíios, de maneira que as finanças pú blicas poderíam restabelecer-se e os .seus efeitos favoráveis seriam ime diatamente sentidos pela geral do país. Um gi-ande emprésti mo compulsório, feito com a certeza geral de que não seria reembolsado jamais ou o seria só muito tarde, e em condições que não se poderia pre ver no momento da emissão, terio como resultado que a dívida pública contribuiría para manter a situação ‘ precária das finanças do Estado.
po-
economia L Além dêstes motivos de ordem Y lítica e social, o professor Griziotti ^ coi^siderava que argumentos de ca-
(20) ‘‘L’Imposta sulla Richezza dopo la - Guerra” e “La Política Finanziaria e lo Aumento delia Richezza durante e dopo la Guerra".
Digmsto r,ro\('»M?q ^82
Um poderoso argumento invocado contra a aplicaç'ao de um grande em préstimo compulsório foi o de que essa operação seria efetuada durante um período de crise, quando a moeda se deprecia e de que, no caso de um t ●
sucesso e, iiortanto, do uin restabe lecimento íias finanças públicas, o Tesoura Público seria obrigado a reembolsar o mesmo valor nominal, mas com moeda estabilizada, o que seria desvantajoso para o Estado.
rátor cientifico encetada pelas revis tas veiãlicaram-sü especializadas, também discussões na imprensa diᬠria e o resultado disso J'oi ijue os cidadãos advertidos transformaram grande parte dc seu ativo em jóias u objetos preciosos, ou então o entcsouraram, i)ara subtraí-lo ao impòsto sobre o ca])ital ciue, com o tempo, parecia inevitável.
Uma nova comissão propôs que se imposto extraordinário criasse progressivo sòbre as fortunas exis tentes no dia 30 de dezembro de 1919
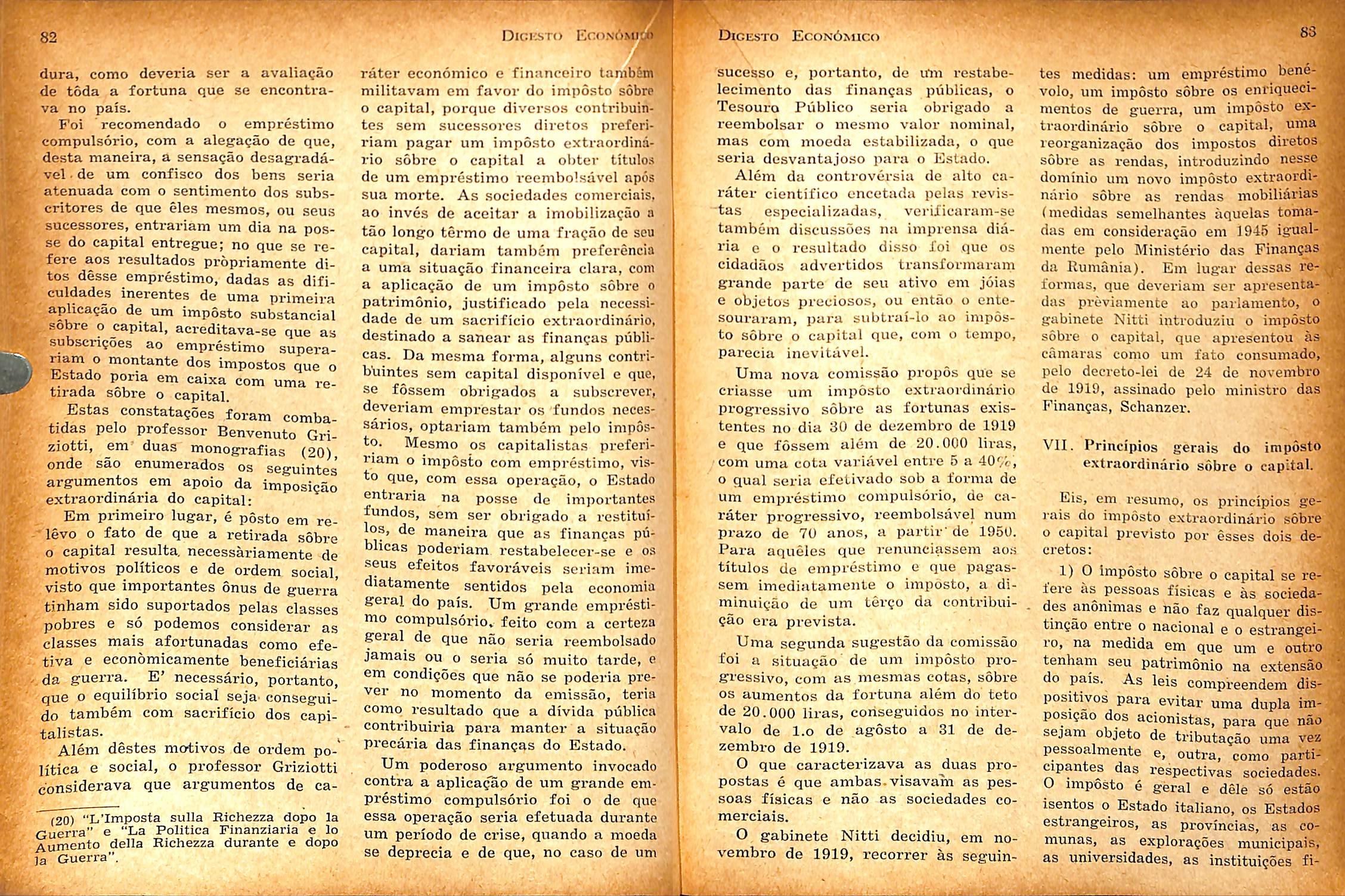
um e que fossem além de 20.000 liras, com uma cota variável entre 5 a 4ü'’,i., o qual seria efetivado sob a forma de um empréstimo compulsório, de ca ráter progressivo, reembolsável num prazo de 70 anos, a partir de 19õU. Fara aiiiiêies que renunciassem aos títulos de empréstimo e que pagas sem imediatamente o imposto, a di minuição de um têrçü da contribui ção era ijrevista.
tes medidas: um empréstimo bené volo, um imposto sobre os enriqueci mentos de guerra, um imposto ex traordinário sòbre o reorganização dos impostos diretos sobre as rendas, introduzindo nesse domínio
capital, uma imposto extraordi- um novo
Além da controvérsia de alto carendas mobiliárias nário sobre as (medidas semelhantes àquelas toma das em consideração em 1945 igualmente pelo Ministério das Finanças da llumãnia). Em lugar dessas re formas, que deveríam ser apresenta das prèviamente ao parlamento, o gabinete Nitti introduziu o imposto sòbre o capital, que apresentou à.s câmaras como um fato consumado, pelo decreto-lei de 24 de novembro de 1919, assinado pelo ministro das Finanças, Schanzer.
VII. Princípios gerais do imposto extraordinário sòbre o capital.
Eis, em resumo, os princípios ge rais do imposto extraordinário sòbre o capitai previsto por êsses dois de cretos:
Uma segunda sugestão da comissão a situação de um imposto pro gressivo, com as mesmas cotas, sòbre os aumentos da fortuna além do teto de 20.000 liras, conseguidos no inter valo de 1.0 de agosto a 31 de de zembro de 1919.
O que caracterizava as duas pro postas é que ambas.visavam as pes soas físicas e não as sociedades co merciais.
foi em no-
O gabinete Nitti decidiu, vembro de 1919, recorrer às seguin-
1) O imposto sôbi’e o capital se re fere as pessoas físicas e às socieda des anônimas e não faz qualquer dis tinção entre o nacional e o estrangei ro, na medida tenham em que um e outro seu patrimônio na extensão do país. As leis compreendem dis positivos para evitar uma dupla im posição dos acionistas, para que nao sejam objeto de tributação uma vez pessoalmente e, cipantes das O imposto é geral isentos o Estado italiano, os Estados estrangeiros,
outra, como partirespectivas sociedades. e dêle só estão as províncias, as co as explorações municipais, munas, as universidades, as instituições fi-
83 DiciiSTO Econômico
data de 30 de junho de 1020 como praapresentação da declaração, zo para a lantrópicas e de ensino e as agências diplomáticas. Quanto às sociedades j anônimas, sei'ão objeto de tributação os acionistas, e, quanto às do res ponsabilidade limitada, os proprietát rios. A lei submetia a impostos todos bens detidos no dia l.o de janeiro de 1920, excetuando, parcialmcnte. \ os sinistrados, j. 2) Submetendo a imposto o patri^ mônio, disso se deduzirá todo o pasr. sivo, como, por exemplo, as dividas \ hipotecárias e quirografárias que po li- dem ser justificadas por escrito, mesÇ mo que não tenham sido fiscalizadas . a tempo, circunstância pela qual »: contribuintes foram anistiados. . A
os os jk recusa em conceder reduções, levando ^ em conta os ônus familiares, foi compensada pelo dispositivo segundo o qual o mínimo sujeito a imposto ; foi fixado em 50.000 liras.
fixando a sanção de um oita%'o ntC* um quarto do imi>òsto, .‘«egundo o caso.
4) A avaliação dos bens ora feita segundo um processo <iue variava de acôrdo com sua natureza. Assim e valor locativo que, para a.s terras, o era multiplicado por um coeficiente, com o que se obtinham os valores provisórios, até as avaliações defi nitivas (lue se devei'Íam fazer pos teriormente. Da me.sma forma,foram avaliados os créditos, as máquinas. as mei*cadorias, os diplomas, os va lores mobiliários, etc., estando entro o ativo sujeito a impôsto, igualmen te, os depósitos bancários, o mobi liário, as jóias e o dinheiro corrente.
am
o
5) O titular de um patrimônio dc menos de 50.000 liras estava -isento do imposto sobre o capital.
0) Uma tarifa progressiva foi ins tituída, de 5 até 25'/<, segundo a pri meira lei, e de 4,5 até 50''/i, segun do a última. O aumento dos coeficien tes era efetivamente sentido a pai'tir do teto de 200.000 liras.
a ser
3) Todos os contribuintes for obrigados a fazer, em determinado prazo, uma declaração detalhada de todos os elementos que compõem ativo e o passivo de seu patrimô nio. Essas declarações eram também obrigatórias para as sociedades isen tas de imposto, em virtude do paga mento de imposto por seus acionistas ou componentes. A declaração de veria ser individual, não aceitando lei uma declaração do chefe da fa mília para todos os seus membros. As declarações deveríam ainda redigidas em formulários-padrão, dos quais foram impressos 8 milhões do C exemplares. A declaração constituía L um ato solene, assinado pelo contrií buinte e baseado em atos justificar tivos que deveríam ser levados à i. administração relativa ao domicílio do contribuinte.

7) Em princípio, o pi-azo fie paga mento era de 20 anos, reduzido a 10 anos somente para fortunas compos tas na pi‘oporção de 3/5 de valores mobiliários.
8) O impôsto poderia sím- pago om numerário, em bônus do tesouro, om títulos de renda, em obrigações do banco ou em certificados de crédito do instituto de emissão.
9) Como sanções, a lei jíiomulgava uma série de medidas, indo desde a aplicação de multas até o confisco dos bens, segundo se tratasse de erro.s involuntários, de omissões ou de fraudes.
Dir.i-sro Ecosó.mk: ^ 8-1
T*
A lei de 24 de novembro previa a 1
ou VIII. A imposição dos benefícios do guerra.
feitos de guevra e da conjuntura criada por esta situação especial.
O programa financeiro da Rumània paru o ano de 10*15 previa a maior parte das medidas 1919 pelo gabinete Nitti, que vi.sara um grande empréstimo benévolo, uma lei para a imposição dos beneficies reorganização dos

enunciadas em de guerra, uma impostos diretos pela instauração do impôsto ijrogressivo global, um traordinário sôbre as rondas mobiliáfinalmente, um impôsto ex-
sôbro a renda aumento do impôsto exnas e, traordinário sôbre o capital.
sôbre o o sacrifício O impôsto extraordinário capital, que representa das classes capitalistas para satisfa zer aos princípios do justiça fiscal não foi conem tempo de guevra, siderado na Rumânia sob os mesmos aspectos de acordo com os quais fôra adotado pela legislação italiana, cujos princípios essenciais acabamos de re sumir.
Abstvaindo-se o empréstimo volun tário, a lei para a introdução do ilnpôsto progressivo sôbre a renda glo bal e aquela relativa ao impôsto exvalores mobiaínda acentuar os traordinário sôbre ps liários, j-esta-nos princípios aplicados para a situação de um impôsto sôbre os benefícios de
i guerra.
Deste ponto do vista, é preciso que estabeleçamos as noções, precisando se tal lei para a imposição dos be nefícios de guerra pode aplicar uma retirada sôbre o se sua aplicação é limitada a uma esfera mais restrita, abrangendo apebenefícios feitos ou capitaliza-
capital ou, então, nas os dos em consequência direta dos atos
Consideramos que o efeito político e social que se procura atingir com a instauração de tal legislação que in cide sôbre os benefícios de guerra, nâo seria integralmente realizado sem a instituição de um imposto geral extraordinário sôbre o capital, igual àquele instituído pela legislação ita liana.
A imposição apenas dos pseudobeneficios de guerra constitui, quando muito, uma medida intermediária, en tre a imposição normal das rendas excepcionais, que é um sistema cor rentemente aplicado por tôdas as le gislações, e a retirada sôbi‘e o capi tal, que representa uma medida de caráter político e social destinada a aplainar as divergências criadas em tempo de guerra e a reconciliar, até certo ponto, as diversas classes de um país.
Seria apenas com a aplicação gerai do imposto sôbre o capital que se poderia tender para uma situação que, com a imposição dos importan tes patrimônios que existem no inte rior do país, oferecería ao Estado os meios necessários para realizar as re formas sociais, contribuindo para har monizar as diferentes classes sociais e extinguir a maioria dos ônus de guerra, Se tal impôsto não pode ser .pago num prazo mais curto, isto nâo constitui Um defeito do sistema, mes mo que, em virtude da falta de di nheiro líquido, que se observa em di versas empresas comerciais e indus triais, o efeito da introdução do im pôsto sôbi*e o patrimônio fôsse apenas criar um novo co-proprietário, o Es tado, de todos os bens para os quais
85 Dici-:sto Ecosómico
o o imposto não pudesse ser pago de outra maneira, em virtude de carên' cia de numerário.
Como partidários da imposição ex traordinária do capital, nas condições ● especiais enunciadas acima, não acre ditamos . chegar às conclusões e idéíàs 'enunciadas por Leon Walras e Henvi George, que, partindo de ^ outro ponto de vista,
as um propuseram a imposição maciça das terras, forçar os proprietários dêsses bens ' a renunciarem
para ^ à propnedade agi*ícola privada, ou transferir de t maneira evolutiva 1^, Estado,
uma seu patrimônio ao que, segundo esta concepção, toynar-se-ia o único proprietário do solo. Levando em conta a importân¬ cia considerável tria tem na vida consideramos
que a grande indúseconômica atual, ^ aue tal solução radical e menos aplicável ainda setores econômicos. em outros
Se nossa posição é, portanto, trária a uma solução radical do blema social por intermédio de imposto maciço sôbre a fortuna, des^ tinado a socializá-la
conproum progi*essivamen te, quando privada, não podemos dei xar de reconhecer, no entanto, efeitos positivos de uma reforma fis cal que buscasse transportar da pressão fiscal sôbre v', vado, diminuindo
mais cedo i)ossível e em seu próp*"^*^ interesse. A posição dos adversár*^' do imposto extraordinário sôbre a fo*"' tuna é um anacronismo que cornp^' ramos à atitude, outrora tão dofen<J’* da, dos adversários do voto femininí^*
Examinando sob o prisma dess<*~ considerações os princípios da lei n*' mena para a imposição dos benefíci*'^ de guen-a de l.o de abril de 1945» observaremos que seu campo de apí*' cação está limitado a um setor abso* lutamente restrito da economia ní'" cional, representando, na realidade'’ um suplemento da retirada corrente sôbre a renda.
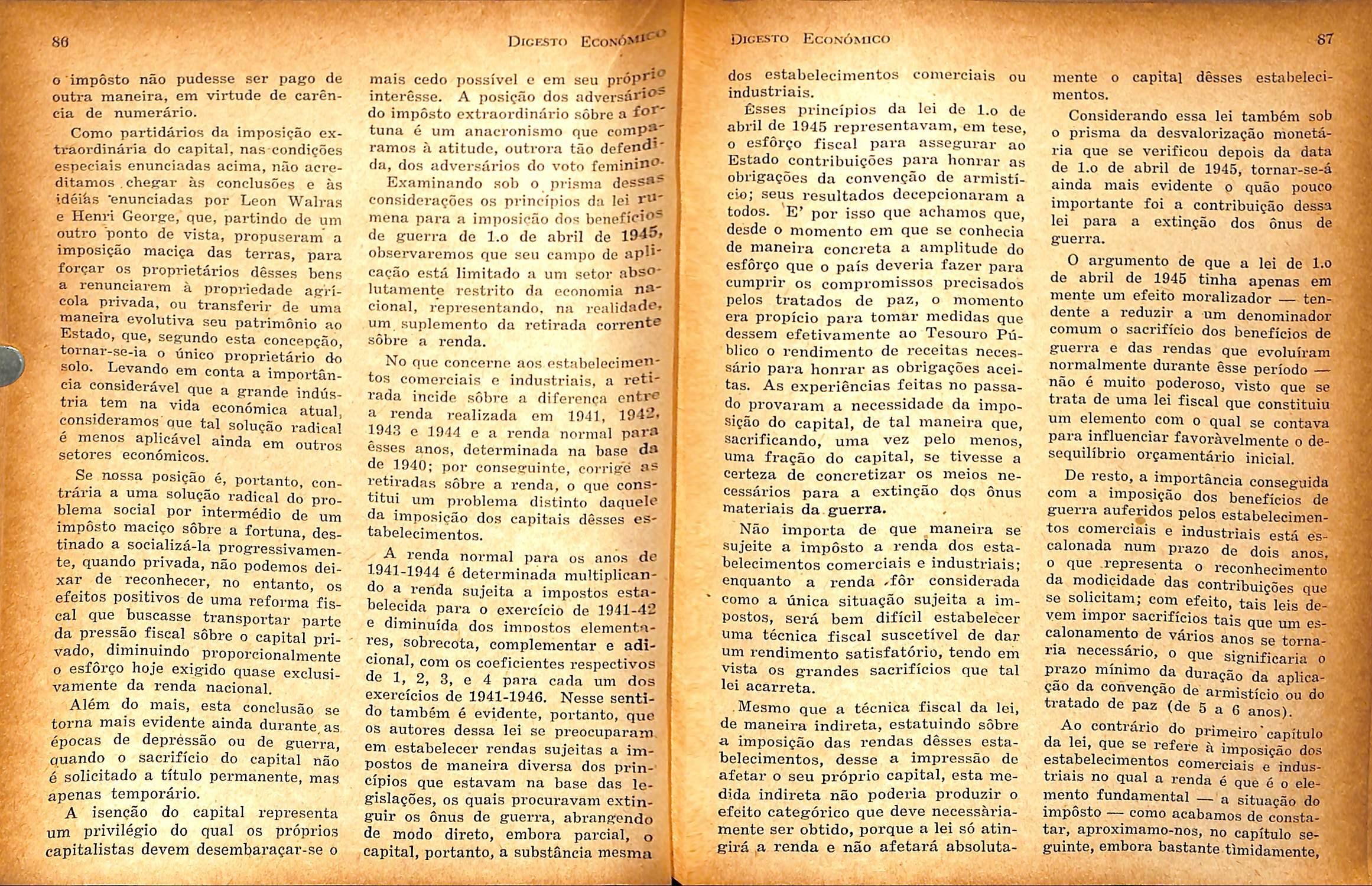
No que concGime aos estabelecinioií* tos comerciais o industriais, a retii’ada incide sôbre a diferença entr^* renda realizada em 1011, 104-. 194.3 e 1014 e a renda normal paví» êsses anos, determinada na base dí» de 1940; por consetruinte, corritré a? retiradas sôbre a renda, o que cons titui um problema distinto daqueU’ da imposição dos capitais dêsses es tabelecimentos.
os parte o capital priproporcionalmente o esforço hoje exigido quase exclusivamente da renda nacional, & Além do mais, esta conclusão torna mais evidente ainda durante épocas de depressão ou de guerra, ií' quando o sacrifício do capital é solicitado a título permanente, apenas temporário.
●í
se as nao mas
a do os anos prm-
DiGRSTC) Económ*'^
A renda normal }>ara 1941-1944 é determinada multiplican do a renda sujeita a impostos esta belecida para o exercício de 1941-42 0 diminuída dos imnostos elementares, sobrecota, complementar e adi cional, com os coeficientes respectivos de 1, 2, 3, e 4 para cada um dos exercícios de 1941-1946. Nesse senti do também é evidente, portanto, que os autores dessa lei se preocuparam em estabelecer rendas sujeitas a im postos de maneira diversa dos cípios que estavam na base das le gislações, os quais procuravam extinguir os ônus de guerra, abrangendo de modo direto, embora parcial, o capital, portanto, a substância mesma - 86
A isenção do capital representa privilégio do qual os próprios r ● um ●I.
capitalistas devem desembaraçar-se o
dos estabelecimentos comerciais industriais.
ou ao as n
Êsses ]u'incípios ciu lei do l,o do abril de 19-15 x-opresentavam, em tese, o esforço fiscal para assoírurar Estado contribuições para honrar obrigações da convenção de armistí cio; seus resultados decepcionaram todos. E' por isso que achamos que, desde o momento em que se conhecia de maneira concreta a amplitude do esforço que o país deveria fazer para cumprir os compromissos precisados pelos ti”atados de paz, o momento era pi*opício para tomar medidas que dessem efetivamente ao Tesouro Pú blico o rendimento de receitas neces sário para honrar as obrigações acei tas. As experiências feitas no passa do provaram a necessidade da impo sição do capital, de tal maneii*a que, sacrificando, uma vez pelo menos, uma fração do capital, se tivesse a certeza de concretizar os meios ne cessários para a extinção dps ônus materiais da guerra.
Não importa de que maneii*a se sujeite a imposto a renda dos esta belecimentos comerciais e industriais; enquanto a renda .-fôr considerada 'como a única situação sujeita a im postos, será bem difícil estabelecer uma técnica fiscal suscetível de dar um rendimento satisfatório, tendo em vista os grandes sacrifícios que tal lei acarreta.
Mesmo que a técnica fiscal da lei, de maneii’a indireta, estatuindo sôbi*e ●a imposição das i*endas dêsses esta belecimentos, desse a impressão de afetar o seu pi'óprio capital, esta me dida indireta não poderia produzir o efeito categórico que deve necessaria mente ser obtido, porque a lei só atin girá a renda e não afetará absoluta¬
mente o capital dêsses estabeleci mentos.
Considerando essa lei também sob o prisma da desvalorização monetá ria que se verificou depois da data de 1.0 de abril de 1945, tornar-se-á ainda mais evidente o quão pouco importante foi a contribuição dessa lei para a extinção dos guerra. ônus de
0 argumento de que a lei de l.o de abril de 1945 tinha apenas em mente um efeito moralizador ten¬ dente a reduzir a um denominador comum o sacrifício dos benefícios de guerra e das rendas que evoluíram normalmente durante esse período não é muito poderoso, visto que se tiata de uma lei fiscal que constituiu um elemento com o qual se contava para influenciar favoravelmente o de sequilíbrio orçamentário inicial.
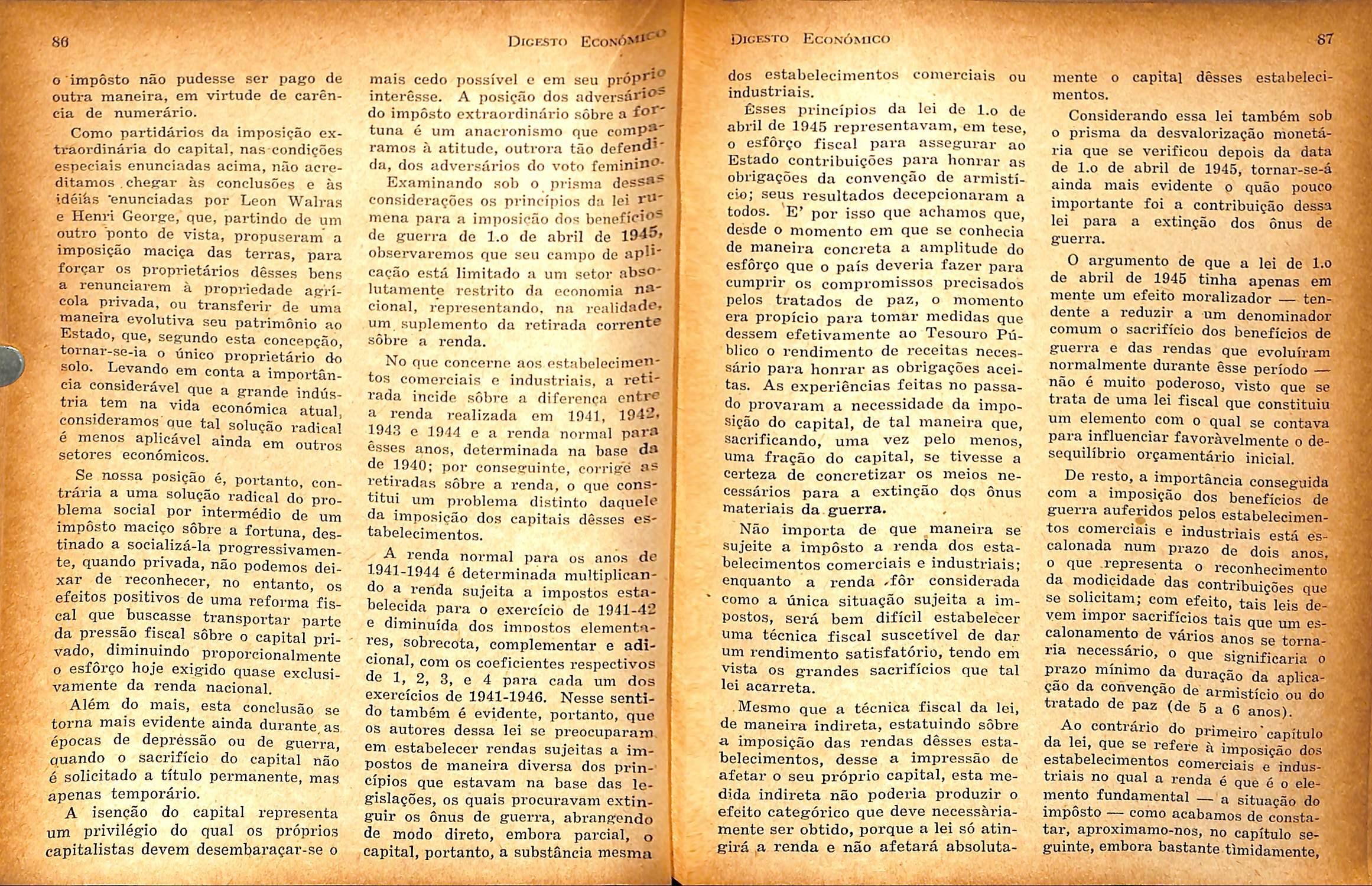
De resto, a importância conseguida com a imposição dos benefícios de guerra auferidos pelos estabelecimen tos comei*ciais calonada num e industriais está pi'azo de dois esanos, o i*econhecimento o que representa da modicidade das contribuições que se solicitam; com efeito, tais leis devem impor sacrifícios tais calonamento de vários ria necessário.
que um esanos se tornat> que significaria o praso mmimo da duração da aplicaçao da convenção de armistício ou do tratado de paz (de 5 a 6 anos).
Ao contrário do primeiro'capitulo da lei que se refere à imposição do.s estabelecimentos comerciais e industriais no qual a renda é que é o ele mento fundamental — a situação do imposto — como acabamos de consta tai*, aproximamo-nos, no capítulo se guinte, embora bastante timidamente,
j^ií:K.sTo Econômico 87
I K
1 J 1
da retirada sôbre o dos princípios capital.
Com efeito, a lei define como be nefício auferido durante a guerra pelas pessoas físicas a parte de sua fortuna estabelecida no dia 23 de agosto de 1944, adquirida no espaço de tempo enti*e 1941-1944, mais os bens, os direitos e os valores conse guidos a partir de 23 de agôsto de 1944 até 31 de dezembro de 1944.
A lei não considera como aquisições sujeitas a impôsto: o mobiliário do méstico, os objetos e materiais de ‘ tuário, os inventários profissionais, os títulos ‘ do empréstimo públicos e os depósij tos bancários ou em outros institutos ' de crédito. Desta
vesgéneros alimentícios. os maneira, uma par te apreciável do capital das pessoas físicas é subtraída à imposição, de sorte que o princípio da retirada sô bre o capital, que a lei de 1945 apli ca apenas às pessoas físicas, é pràticamente utilizado de modo bem ine ficiente. Êsses aumentí» de fortuna estão sujeitos ao impôsto de uma cota de 10% pára os valoi-es até 6 milhõe.s de “lei”, indo até 90% lores acima dessa cifra, mente, dada a desvalorização que se seguiu e que era a consequência na tural dos ônus excessivos imposto.s a uma economia enfraquecida pelos esforços sofridos durante
j k ; I? os dispositivos citados não eram de molde a encontrar os recursos de sejados. Portanto, nem mesmo o ob jetivo parcial previsto no segundo capítulo dessa lei foi atingido.
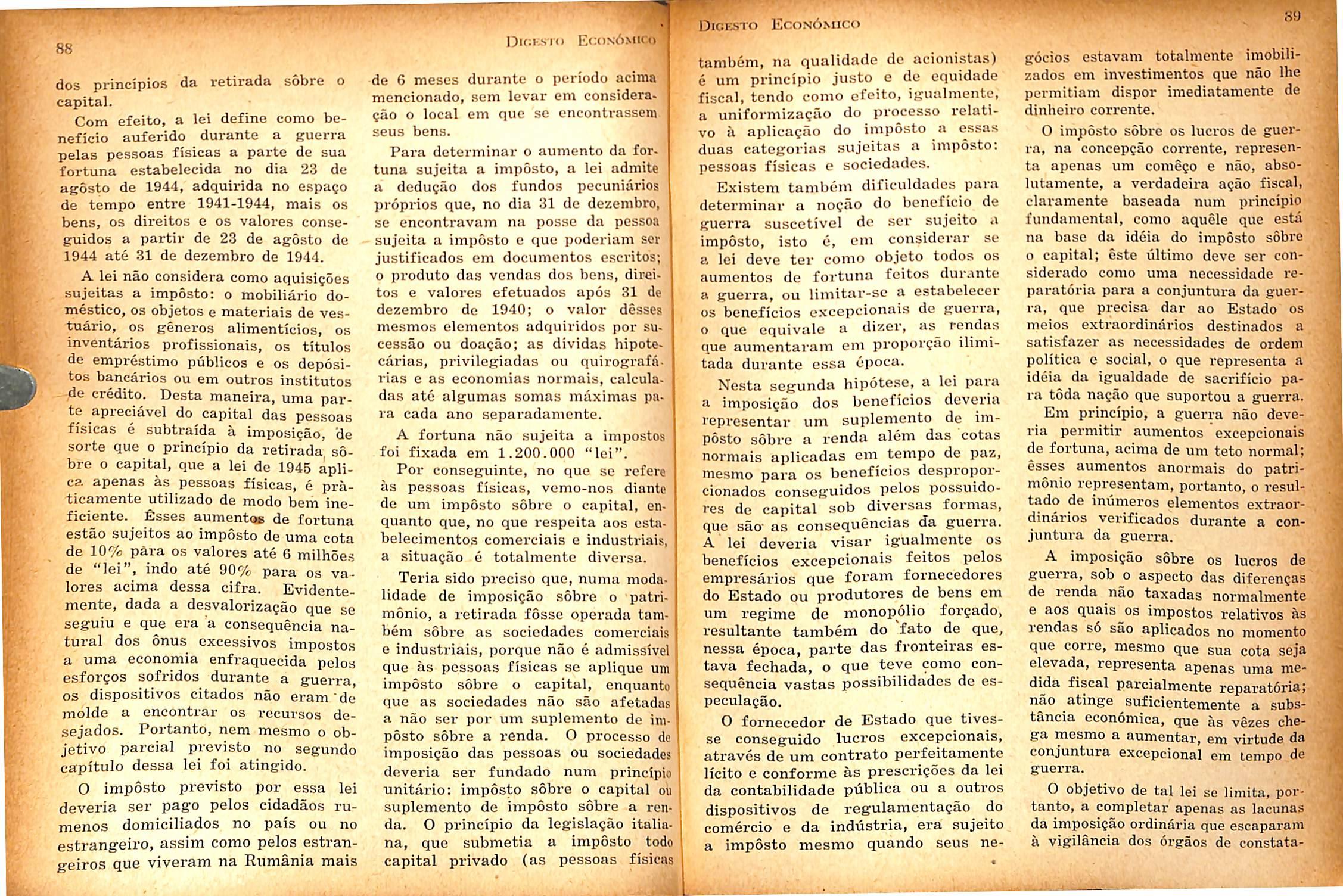
í
de 6 meses durante o periodo acima mencionado, sem levar em considera ção o local em que so encontrassem seus bens.
Tara determinar o aumento da for tuna sujeita a imposto, a lei admite a dedução dos fundos pecuniários próprios que, no dia 31 de dezembro, se encontravam na posse da pessoa sujeita a imposto c <iue poderiam ser justificados cm documentos escritos; o produto das vendas dos bons, direi tos e valores efetuados após 31 de dezembro de 1940; o valor dêssea mesmos elementos adejuiridos por su cessão ou doação; as dívidas hipote cárias, privilepiadas ou quiroprafárias e as economias normais, calcula das até alííumas somas máximas pa ra cada ano separadamente.
A fortuna não sujeita a impostos foi fixada em 1.200.000 "lei”.
Por eonscífuinte, no que se refere às pessoas físicas, vemo-nos diante de um imposto sobre o capital, en quanto que, no que respeita aos esta belecimentos comerciais e industriais, a situação é totalmente diversa.
estrangeiro, assim como pelos estranviveram na Rumânia mais geiros que
Telia sido preciso que, numa moda lidade de imposição sôbre o patri mônio, a retirada fôsse operada tam bém sôbre as sociedades comerciais e industriais, porque não 6 admissível que às pessoas físicas se aplique um imposto sôbre o capital, enquanto que as sociedades não são afetadas a não ser por um suplemento de impôsto sôbre a renda. O processo dc imposição das pessoas ou sociedades deveria ser fundado num princípio unitário: impôsto sôbre o capital ou suplemento de impôsto sôbre a ren da. O princípio da legislação italia na, que submetia a impôsto todo capital privado (as pessoas físicas
IV í JJ V ' t i) Lconóníu^W 88
para os vaEvidentea guerra, i
L,
O impôsto previsto por essa lei deveria ser pago pelos cidadãos rudomiciliados no país ou no menos
estavam totalmonte imobili- tambéni, na qualidade do acionistas) principio justo o do equidade e um ÍTOCIOR zados em investimentos que nào lhe permitiam dispor imediatamente de dinheiro corrente. fiscal, tendo como efeito, iííualmente, do processo relutià aplicação do imposto a essas duas catoííoria.s sujeitas a imposto: pessoas físicas e sociedades. Existem também dificuldades para do benefício de
uniformização a vo determinar a noçao
guerra su.scetível dc imposto, isto é, c»m V. lei deve ter como objeto todos os aumentos de fortuna feitos durante a estabelecer
ser sujeito considerar se a guerra, ou limitar-se os benefícios excepcionais de guerra, dizer, as rendas propo3’ção ilimi0 que equivale a que aumentaruíu em tada durante essa época.
Nesta segunda hipótese, a lei para dos benefícios deveria suplemento de ima imposição representar um pôsto sôbro a ronda além das cotas normais aplicadas cm tempo de paz, benefícios despropor- mesmo para os cionados conseguidos pelos possuidode capital sob diversas formas, consequências da guerra. res quo sao' as A lei deveria visar igualmente os benefícios excepcionais feitos pelos empresários que foram fornecedores do Estado ou produtores de bens em um regime de monopólio forçado, resultante também do fato de que, nessa época, parte das fronteiras esque teve como con- tava fechada, o
O imposto sobre os lucros de guer ra, na concepção corrente, represen ta apenas um começo e não, absolutamente, a verdadeira ação fiscal, claramente baseada num princípio fundamental, como aquele que está na base da idéia do imposto sobre o capital; este idtimo deve ser con siderado como uma necessidade reparatória para a conjuntura da guer ra, que precisa dar ao Estado os meios extraordinários destinados a satisfazer as necessidades de ordem política e social, o que representa a idéia da igualdade de sacrifício pa ra tôda nação que suportou a guerra.
Em princípio, a guerra não deve ria permitir aumentos excepcionais de fortuna, acima de um teto normal; êsses aumentos anormais do patri mônio representam, portanto, o resul tado de inúmeros elementos extraor dinários verificados durante juntura da guerra. a con-
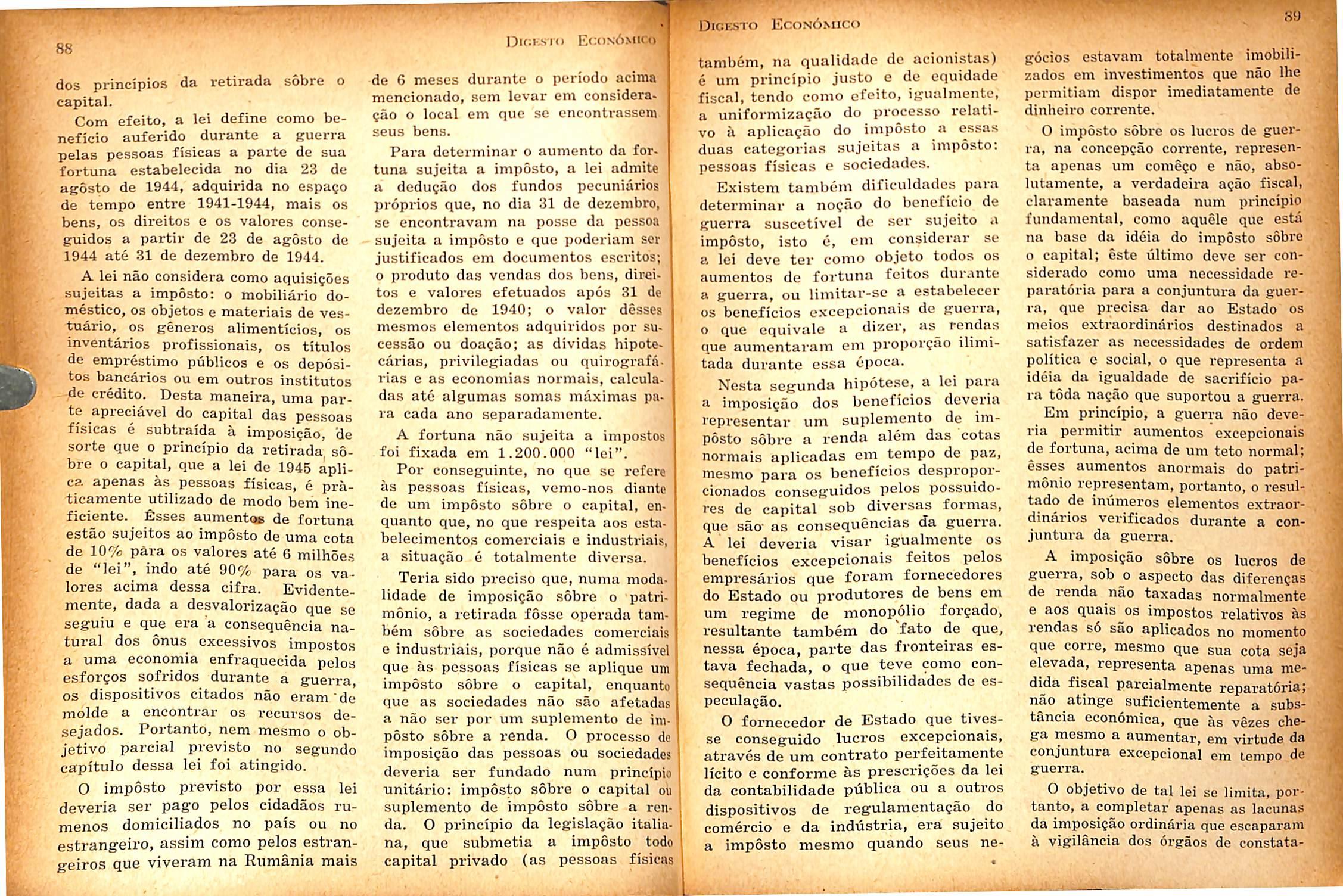
A imposição sôbre os lucros de guerra, sob o aspecto das diferenças do renda não taxadas nornialmente e nos quais^os impostos relativos ãs rendas só são aplicados no momento que corre, mesmo que sua cota seja elevada, representa apenas uma mesequência vastas possibilidades de peculação. dida fiscal parcialmente reparatória; atinge suficientemente a subs tância econômica, que às vêzes che ga mesmo a aumentar, em virtude da conjuntura excepcional em lempo de guerra.
nao es-
O fornecedor de Estado que tives se conseguido lucros excepcionais, através de um contrato perfeitamente lícito e conforme às prescrições da lei da contabilidade pública ou a outros dispositivos de regulamentação do comércio e da indústria, era sujeito imposto mesmo quando seus ne- a
O objetivo de tal lei se limita, por tanto, a completar apenas as lacunas da imposição ordinária que escaparam à vigilância dos órgãos de constata-
S9 Dic:ksto Econômico
A san¬ ção fiscal durante a guerra, dos benefícios ilícitos ou extraor- çao -dinários terá antes um efeito de ordará ao Tesouro dem moral e não Público os fundos necessários pai*a fazer frente aos posados ônus que incidem sobre as finanças do Estado durante ou imediatamento depois de uma crise ou uma guerra.
tanpe à distribuição equitativa das despesas públicas.
As dificuldades financeiras relativas a um período como aquêlc subsequen te a uma crise ou uma guerra coloV caram também o problema de eíícof>’ lher entre esses dois meios financeiros excepcionais: a inflação ou o iml pôsto sôbre o capital.
O fenômeno da inflação monetári ó bem antigo. l Recordam-se, ness a e sentido, as reformas de Filipe, o Be lo e de seus sucessores imediatos.
E’ verdade que, com a inflação, a dívida interna pública é considerâvelmente reduzida, atinge sem todos os possuidores de moeda naci<^ nal c aniquila literalmcnte.as possi bilidades de existência dos assala riados de todas as categorias.
mas esta medida nenhuma discriminação
A inflação foi tantas vezes preferetirada extraordinária
IX. Inflação ou imposto sôbre o capital. rida a uma sobre o capital poriiuc é muito mais fácil de aplicar em relaçao as difi culdades encontradas pola instituição
I que modificaram 71 j, da lira e diminuíram, em menos de 16 anos, por 86 vêzes, o valor da moeE’ fácil imaginar as
vezes o curso p da de prata. K consequências desastrosas que tais S- medidas criaram na época.
do tal imposto. Considerando o jiroblcma de uma dívida ])ública de tal envergadura que se torna necessário recorrer a um remédio imediato, poderiam ser le vadas em conta duas soluções possí veis, abstração feita daquela que consistiria em repudiar as dívidas sem reservas ou condições, modalidades são: a inflação e o impôsto extraordinário sôbre o capital.
No fim do reinado de Luís XIV, o K‘ ministro Law introduziu. na Françá K medidas muito conhecidas, destinadas, em primeiro lugar, a cobrir fc despesas das expedições levadas a efeito; inútil insistir sôbre t o desastre financeiro que se seguiu, r A inflação constitui um meio de ? ● tesouraria e um expediente utilizado ^ para poder fazer frente a obrigações r » financeiras que vão além das receitas orçamentárias normais. Esta modalidade é caracterizada por sua naempírica, desprovida da mais ''' elementar forma científica no que
as guerreiras tureza
Durante o período de intervenção dos exércitos estrangeiros no territó rio da URSS e da guerra civil, o Estado soviético teve necessidade dc grandes recursos pecuniários. Nessa época tinha sido iniciado o sistema da i*egulanicntação da produção e de sua distribuição, sem atentar para natureza industrial ou agrícola.
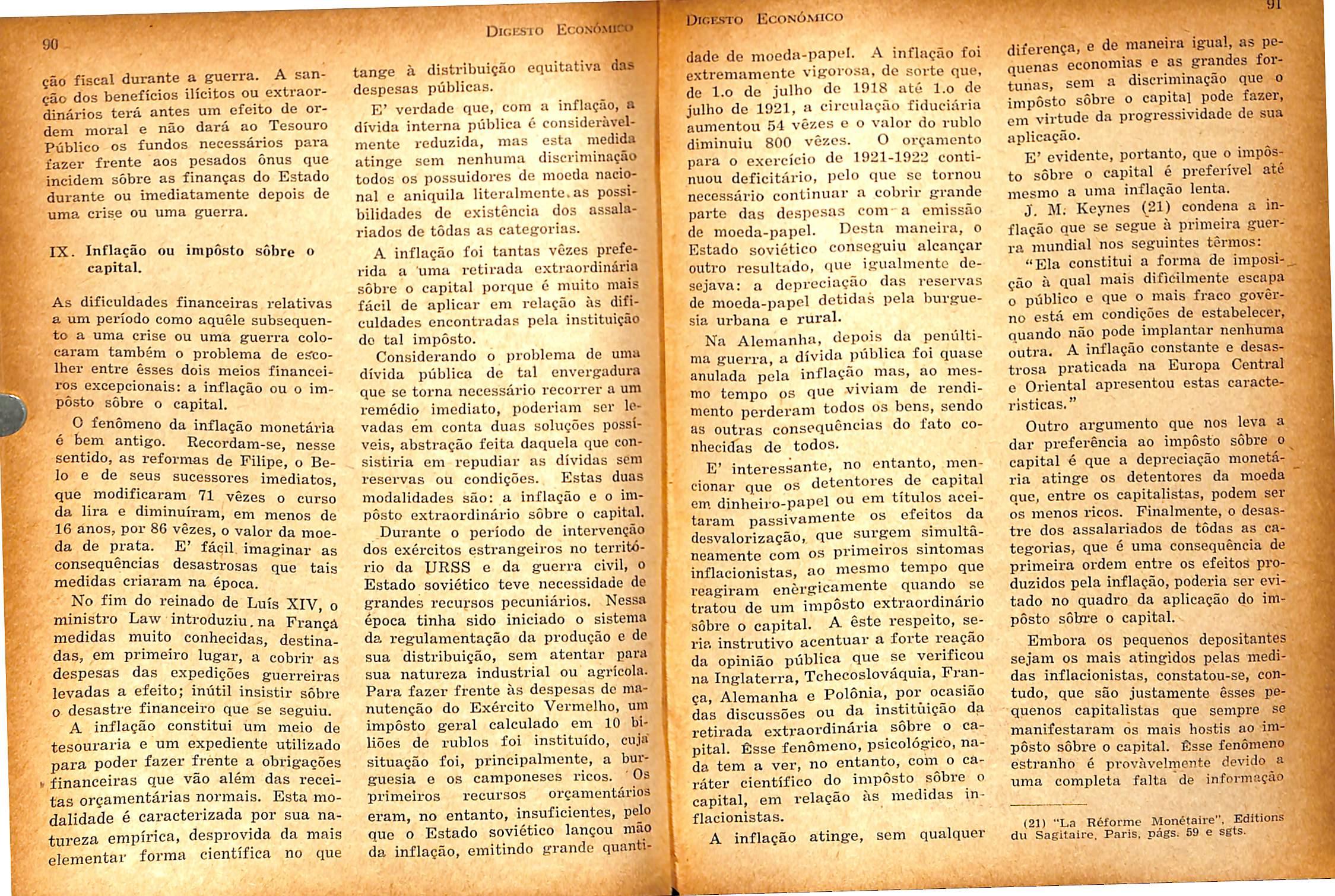
Estas duas sua
Para fazer frente às despesas do ma nutenção do Exército Vermelho, uin imposto geral calculado em 10 bi liões de rublos foi instituído, cuja situação foi, principalmente, a buvOs guesia e os camponeses ricos, orçamentários recursos primeiros
, no entanto, insuficientes, pelo o Estado soviético lançou nião eram,'’ que o da inflação, emitindo grande quanti-
EcONÔiUCÒ DiííKSio 90
F'.
dade de mocdn-papel. A inflação foi extremamente vigorosa, de sorto que, do 1.0 de julho de 1918 até l.o de julho de 1921, a aumentou .51 vêzes diminuiu 800 vêzes. para o exercício de 1921-1922 conti nuou deficitário, pelo (|ue se tornou necessário continuar a cobrir gi*ando com a omissão
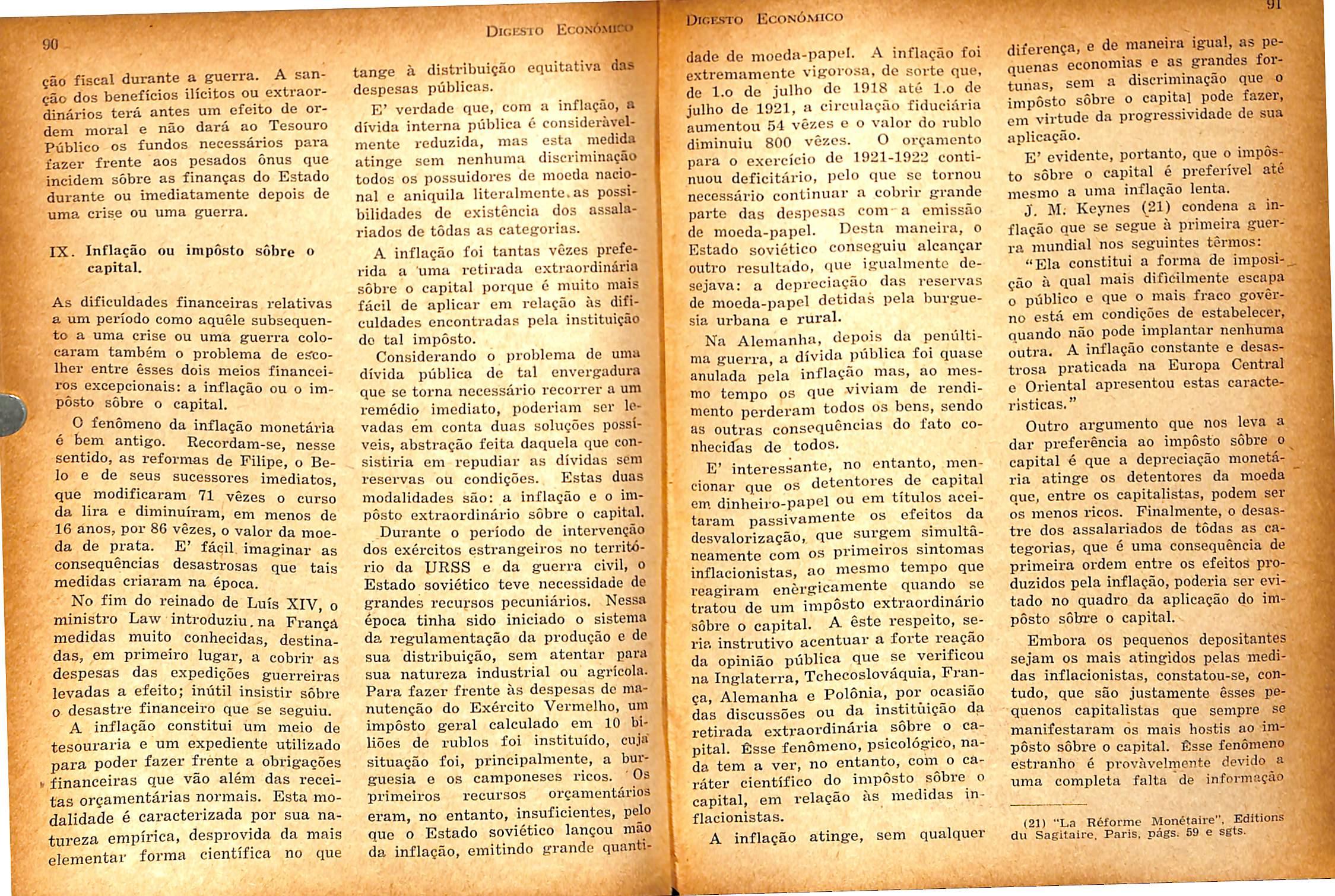
circulação fiduciária e o valor do rublo O orçamento parto das de.spesas de mooda-papel. Estado soviético conseguiu alcançar outro resultado, (pie igualmcnto dcdas reservas
Desta maneira, o dcpreciaçao sejava: a . de moeda-j)apel detidas pela burgue sia urbana e rural.
Na Alemanha, depois da penúltidívida pública foi quase inflação mas, ao mesviviam de rendi-
ma guerra, a anulada pela mo tempo os que mento perderam as outras consequências nhecidas de todos.
E’ interessante, no entanto, meni detentores de capital om títulos acei te os efeitos da surgem simultâ-
cionar que os em dinhoiro-papel tai-am passivanien desvalorização, que neamente com os primeiros sintomas ao mesmo tempo que reagiram cnòrgicamente quando se tratou de um imposto extraordinário
- de maneira igual, as pceconomias e as grandes fora discriminação que capital pode fazer, 0 0
diferença, e quenas tunas, sem imposto sobre em virtude da progressividade de sua aplicação.
E’ evidente, portanto, que o impos to sôbre o capital é preferível até mesmo a J, M. Keynes (21) condena a in flação que se segue à primeira guermundial nos seguintes termos: Ela constitui a forma de imposi ção à qual mais dificilmente escapa o público e que o mais fraco gover no está em condições de estabelecer, quando não pode implantar nenhuma outra. A inflação constante e desasna Europa Central e Oriental apresentou estas caracte rísticas.”
uma inflação lenta. ra trosa praticada
todos üs bons, sendo do fato co- Outro argumento que nos leva dar preferência ao capital é que a depreciação monetá ria atinge os detentores da moeda que, entre os capitalistas, podem ser os menos ricos. Finalmente, o desas tre dos assalariados de todas as ca tegorias, que é uma consequência do primeira ordem entre os efeitos pro duzidos pela inflação, podería ser evi tado no quadro da aplicação do im posto sôln.'e 0 capital.
A este respeito, se-
ou inflacionistas sôbre o capital, rir. instrutivo acentuar a forte reaçao da opinião pública que na Inglaterra, Tchccoslováquia, Fran ça, Alemanha e Polônia, por ocasião da instituição da
sôbre o ca, na0
se verificou das discussões ou retirada extraordinária pitai. Êsse fenômeno, psicológico da tem a ver, no entanto, com o ca ráter científico do imposto sobre capital, em relação às medulas inflacionistas.
A inflação atinge, sem qualquer
a imposto sôbre o SC uma
Embora os pequenos depositantes sejam os mais atingidos pelas medi das inflacionistas, constatou-se, con tudo, que são justamente êsses pe quenos capitalistas que sempre manifestaram <3s mais hostis ao im posto sôbre o capital. Êsse fenômeno estranho é provavelmente devido a completa falta de informaçao
(21) “La Réforme Monétaire”. Edltions du Sagitaire, Paris. págs. 59 e sgts.
Econômico DlOttSTO
quanto à natureza e aos efeitos des sas duas ações.
Muitas nações e opiniões públicas esclarecidas aceitaram as consequên cias desastrosas da inflação, repe lindo um imposto extraordinário sô bre o capital, dando assim livre curso aos efeitos catastróficos que a infla ção produz, ao invés de aceitar livre mente um sacrifício que só atingi ría parte limitada de seu patrimônio.
Em lugar de uma distribuição me tódica e científica dos Ônus materiais da guerra entre todos os detentores de capital que, após a guerra, vissem de posse de fortunas conso lidadas, a inflação provoca a depre ciação monetária, que, sob o aspecto dob cidadaos que atinge, constitui Uída empírica e cega. oposição ao impos to sobre 0 capital, acentua ainda mais a miseria geral dos pequenos possuí dores de capital, enquanto que atinge, absolutamente — pelo con trário, torna mais consolidadas aind-i fortunas investidas em diversos bens das classes ricas.

bém, que sofi*em as maiores desvan* tagens com o aumento do custo de vida e com a redução progressiva do poder de compra dos salários. A in trodução, a tempo, de um imposto ex traordinário sôbre o capital, poderia evitar em grande escala tais efeitos.
As modalidades de um imposto sô bre o capital podem ser das mais variadas. Sua forma e sistemas podem ser estabelecidos em relação ao local, ao tempo de aplicação e pode ríam depender também do específi co da riqueza do país em questão. Não poderia, contudo, ser contestado cjue o princípio do imposto extraordinário sôbre o capital se impôe co mo uma medida necessária, tanto do ponto de vista da ciência financeira como da justiça social e isto não somente para cicatrizar as chagas da guerra como também para nivelar o desequilíbrio financeiro, que acen tua de maneira ainda mais evidente as diferenciações sociais.
se menao a parte conscienciosos ●A » LL íLi.
em-
o mais numerosos dos títulos de préstimos, são quase aniquiladas pe lo efeito da inflação; são eles, tam-
O imposto sôbre o capital pròprinmente dito poderia ser igualmente o instrumento da reforma da sociedade e, aplicado a tempo, como medida con sentida de sacrifício voluntário, o imposto extraordinário sôbre o capital poderia também constituir tinada a libertar e salvar por si mesmo.
a ação descapital o
DujKvro Ecünóníi 92 "H *
. r i. i-
As somas subscritas pelos funcio nários, que foram em tôda os subscritores mais
Um defensor da justiça e da liberdade
 Ai-oNso AtUNos DK Mklo Tuanco
Ai-oNso AtUNos DK Mklo Tuanco
O"dia 2() de fevereiro marcou conto cincoenta anos de nascimento de Vítor Iluíyo, poeta tão cônscio de sua ífrandeza, que pôde escrever com orpulho, mas sem ridículo, que o sé culo era dois anos mais velho do que êle.
^ e
Afonso Arhwò\dc Melo Franco, exemphir (Je hunuinislo, que, nos domínios 1. da litcralura francesa, escreveu helas ^ V eruditas páginas sobre Moidn*gne c liousscau, co7?í;)()s éste ííiogní/íco ensaio sóbre Vítor Uuíio.
Eco sonoro do universo era como sc >1 inlitidava o grande poeta, dos maiores dc França e do seu tempo. Grande , combatente da liberdade, jornalista, polí tico, Vítor Ilugo utilizou-se de iodos os ' meios de expressão para coiidcjiar os go vernos dc fórça c pregar o respeito do Poder ;)i//;/ieo às liberdades fundamen- ' tais do homem. ■ J
Exilado várias vezes por causa désse f»i/raiis/gc»/c ííjíior aos direitos ineren tes à personalidade humana, nem assim ■ SC entibiou a sua fibfa de lutador. ' ,
A publicação dásfc trabalho, cm que J se refletem as idéias liberais do Autor, "J na data comemorativa do 150.° aniver sário do nascimento de Vítor Hugo, v j uma homenagem à França, d Justiça e à Liberdade.
homem não pode deixai* do ser cria tura do Deus sempre entregue à ten tação do demônio. Mas, como em au mento da nossa aflição, os sofrimen tos que curtimos e as redenções que conquistamos, não encontraram poe tas bastante fortes para cantá-los. Tão desnorteadora, confusa e insen sata é a crise em que nos debatemos, que a voz dos poetas se tornou tam-
bém misteriosa. Falam êles hoje uma '.j linguagem fechada, uma linguagem escura e velada de símbolos, sòmente perceptível pelos iniciados no seu hermetismo, quando não voluntaria mente impenetrável, mas que, por isso mesmo, não leva consolação á densa turba dos que sofrem e procu ram amparo na mensagem dos poetas. A obscuridade da poesia moderna, a sua impotência para suscitar nas al- j mas medianas sentimentos simples e grandiosos, é o mais severo sinal t, de que estamos longe de enconti*ar
nao dobrada a primeira semente da esperança. crise sência de poetas universais, que ve nham consolar as dores e prenunciar as alegrias do gênero humano. Atraprimeira metade deste vessamos, na século, convulsões e cataclismos sem precedentes na História; assistimos, nas mais distantes terras e águas, nos mais longínquos céus, a espetá culos de valor e de miséria que nos coni Pascal, que 0 fazem pensar, ’ I I
í
í
Nós outros, nascidos na aurora ver melha do outro século — vermelha de sangue como a época que o acolheu no mundo, e não tinta do luz tivemos ainda, metade da centúria atual, um intér prete e um ííuia como ôle, cuja imen sa voz, redentora e benfazeja, vies se causticar os crimes do presente ao mesmo tempo que lançar, nas leiras do futuro, a Talvez o sinal mais alarmante da do nosso tempo seja esta au-
Ife' saída para as nossas dúvidas e afliST. ções. Deve haver, no porvir, muita jt. treva concentrada, desde que os pás^ saros de vôo mais alto e mirada mais perserutadora não vislumbraram, ain da, claridade no horizonte.
Não podemos aceitar a triste con clusão de que a poesia, e mesmo, a literatura em geral se tornaram in compatíveis com a vida do homem * moderno. Para que isto fôsse verda de, outras conclu sões seriam neces sárias, que ampu|- tassem do homem j,. tôda vivência espi\ ritual e intelectual - e o transformas sem num autômato entregue às forças cegas do Estado-* Leviatã. Seria, ainda mais, preciso ■ que o homem de p'. hoje derhonstrasse estar voltando es pontaneamente as costas a Deus e aos 1^. poetas. Mas se. precisamente, a » grande maioria dos homens se alarma y’. com o absurdo desta luta que é o k. mundo, luta sem fé nem beleza, com a monstruosidade desses ódios, dessas ' fomes, desses pânicos que, como láte-
gos malditos, atiram povos uns con-
tra outi*os como feras encarniçadas, como é possível pretendei'-se que fal* tem ao ser humano as condições subjetivas criadoras do amor à beleza e à fé?
Não acolhamos, pois, as razões dos desejam curar matando; dos que que
pretendem justificar a pobreza atual do mundo sem poeta.s mundiais, cora a declaração, tão simiilos de se fazer quanto terrível de se admitir, que foi a poesia que morreu. .-Xo contrário, reconhecendo embora que os poetas faltaram, até certo ponto, à nossa geração, empenhemo-nos no esforço de lançar nossas ]ierguntas aos das gerações que já se foram.
Entro êsses, nenhum mais pró.ximo, mais mais capaz de li ções c castigos do que Vítor Ilugo.
Êste poeta que,como Dante e Ca mões. sentiu dirctamente e soube fundir na eternida de do verso um
O “mee, ■{ r-1 o século, entestando rijamente, qual árvore enorme, com os vendavais da História; êste homem, êste poeta, tem respostas às dúvidas que hoje lhe propusermos. Eis porque, em todo mundo, tanta gente se volta para sua gx’ande lição, para o seu gênio feito de enei*gia e amor, de justiça ? esperança.
solidário, A f* .« momento asconslonal do seu ])róprio povo, êste homem que foi na palavra do seu mestre Chateaubriand, nino sublime depois, jovem glo rioso, homem vin gador e ancião pro fético, cresceu com ■
A questão puramente especulativa e que, no entanto,* apaixona agoi*a a tantos escritores, a questão de se
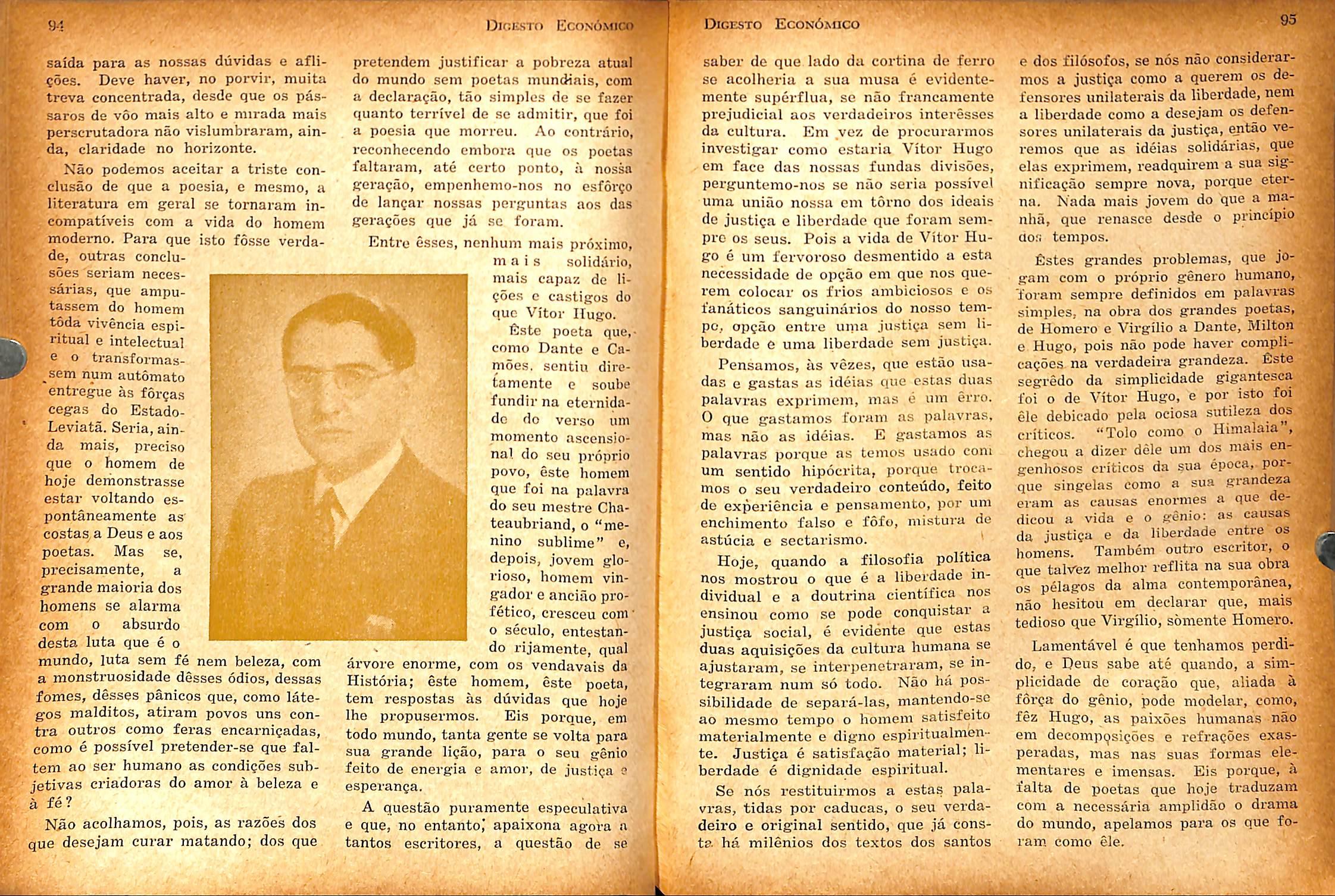
"’ 9-1 ~ r: ■ OinKSKt lüCONÓMll^ll
I; 4 ■ -● V -■ N 5 K?' I,
% f I
●i.
^
saber de que lado da cortina de ferro se acolheria a sua musa é evidontcmente supérflua, se não francamente prejudicial aos vei'dadeiros interesses da cultura. Em vex de procurarmos investigar como estaria Vítor Hugo em face das nossas fundas divisões, pei-guntemo-nos se não seria possível uma união nossa cm torno dos ideais de justiça e liberdade que foram sem pre os seus. Pois a vida de Vitor Hu go é um fervoroso desmentido a esta necessidade de opção em que nos que imem colocar os frios ambiciosos e o.s fanáticos sanguinários do nosso tem po,. opção entre unia justiça sem li berdade G uma liberdade sem justiça.
e dos filósofos, se nós não considerar mos a justiça como a querem os de fensores unilaterais da liberdade, nem a liberdade como a desejam os defen sores unilaterais da justiça, então veidéias solidárias, que remos que as
elas exprimem, readquirem a sua sig nificação sempre nova, porque Nada mais jovem do que a ma nhã, que renasce desde o princípio
eter¬ no. üoíi tempos.
E gastamos as uni
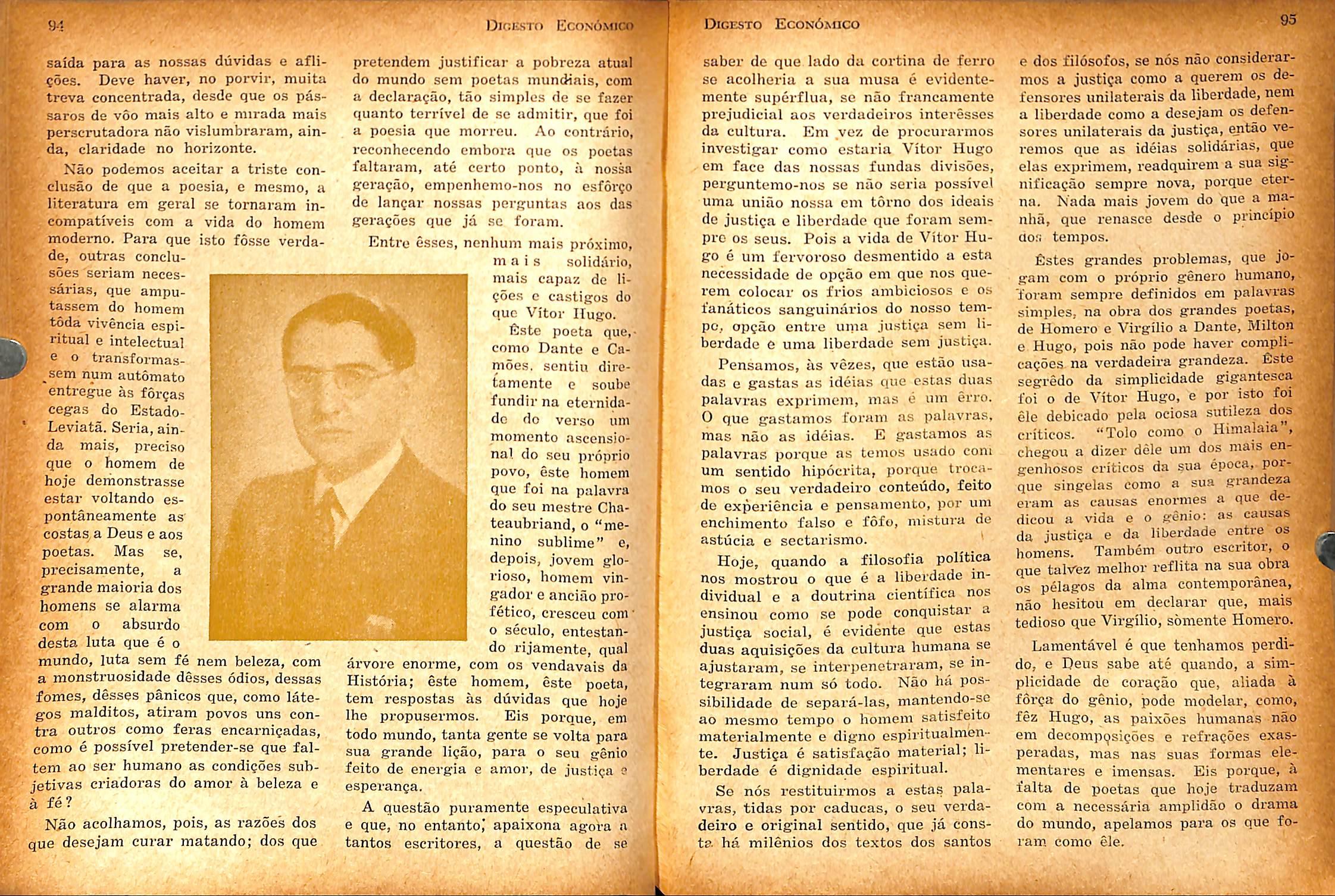
Pensamos, às vezes, que estão usa das e gastas as idéias ciue estas duas palavras exprimem, ma.s ê um êrro. O que gastamos foram as palavras, mas não as idéias, palavras porque as tomos usado com um sentido hipócrita, porque troca mos o seu verdadeiro conteúdo, feito de experiência e pensamento, por enchimento falso e fôfo, mistura de astúcia e sectarismo.
Êstes grandes problemas, que jo gam com o próprio gênero humano, ‘foram sempre definidos em palavras simples, na obra dos grandes poetas, de Homero o Virgílio a Dante, Milton e Hugo, pois não pode haver complierdadeira grandeza. Êste segrêdo da simplicidade gigantesca foi o de Vítor Hugo, e por isto foi êle debicado pela ociosa sutileza dos Tolo como o Himalaia ,
caçoes na v críticos,
chegou a dizer dèle um dos mais en genhosos críticos da sua época, porsua grandeza que singelas como a eram as causas enormes a que dicou a vida e o gênio: da justiça e da liberdade entre Também outro escritor, o talvez melhor reflita na sua obra pélagos da alma contemporânea, não hesitou em declarar que, mais tedioso que Virgílio, somente Homero.
deas causas os homens, que os
m I filosofia política liberdade inHoje, quando a nos mostrou o que e a dividual e a doutrina científica nos pode conquistar a ensinou como se justiça social, é evidénte que estas duas aquisições da cultura humana se ajustaram, se interpenetraram, se in tegraram num só todo. sibilidade de separá-las, mantendo-se ao mesmo tempo o homem satisfeito materialmente e digno espiritualmen te. Justiça é satisfação material; li berdade é dignidade espiritual.
Não há pos-
Se nós restituirmos a estas pala vras, tidas por caducas, o seu verda deiro e originai sentido, que já cons ta. há milênios dos textos dos santos
Lamentável é que tenhamos perdi do, e Deus sabe até quando, a sim plicidade de coração que, aliada à força do gênio, pode modelar, como, fêz Hugo, as paixões luimanas não em deeompqsições e refrações exas peradas, mas nas suas formas ele mentares e imensas. Eis porque, ã falta de poetas que hoje traduzam coni a necessária amplidão o drama do mundo, apelamos para os que fo ram como êle.
95 Dicesto Econômico
, De tôdas as manifestações do pen;; sarnento humano a poesia é a mais [■ expressiva, porque é a mais dcsdcNão é apenas poicjue a lin- * nhosa.
roa de rei, que talvez não lhe fos se nepfada. Kj*a juntar um coroamento napoleônico ao seu destino bj*roniano.
r guagem poética, essencialmente versível e indomável pela lógica, > de exprimir várias coisas a um só tempo, e mesmo coisas contrárias. E’ que a própria substância da poesia permite, e até obriga, a uma espécie de milagre da multiplicação da / dade, em correspondência f riações da inteligência mentos do leitor.
repovercom as vaou dos senti-
Chateauhriand, apóstolo da restau ração e do legitimismo, precursor do constitucionalismo liberal, opositor altivo e irredutível do Império, dis se entietanto de Bonaparte que ôle maior sopro de vida que ja- foi “o E, mais animou a argila humana, ouvindo o canhoneio de Waterloo, deixou-se dominar pela emoção da glória e rezou pela vitória do detes- | tado adversário. Por isto mesmo, na caudal do nio hugoano, poderemos colher i la linfa sempre capaz de aplac
ar nossa mais variada sêde. Mas, se há nêle três elementos constantes serão êles, além da liberdade e da justiça ví referidos, o amor da glória.
gêxque- Bonjamin Constant, o exilado dc i Coppet, o panfletário mordaz, combateu sem dosfalecimonto o sol no | seu zênite mas verenciar a sua luz do ocaso. Nos Cem Dias apoiou o cambaleante ti rano, redigiu o Ato Adicional, lan çou-se francamente Império agonizante.
a
Foi este amor que o fêz titubear, por vezes, nos outros dois caminhos Daí seu culto por Napoleão, filho di leto da glória. ’ Há. na epopéia napoleônica, qualquer coisa dc i ● nil e generoso, qualquer
- juve, ^ , coisa dü arrebatador e irresistível que deslum bra, mesmo em face da justiça opri mida o da liberdade espezinhada
f. Só isto explica a fascinação que aquê le homem, fora de todas as medidas Ç exerceu sôbre os mais livres e maiores escritores do seu tempo.
Stondhal não foi somente o solda do da campanha da Rússia e de Wnterloo.
não resistiu a reem defesa do Foi também o escritor que
.
«
Goethe, que não admirava es guer reiros, nem quando se chamavam Jú lio César ou Frederico, já no Con sulado se deixava atrair pelo jovem corso, por aquela, como êle disse, herrlische und herrschende Erscheinug,” — esplêndida e dominadora aparição.
Byron, na suprema aventura da vida, procurava conquistar, com a independência da Grécia, uma co-
uma arquiduquesa de
e cujo livro i Chartreuse do <1 a Havia, naquela glória nababesca e perdulária, qualquer coisa de su- j perior, que pairava acima dos seus crimes e brutalidades. Esta qualquer coisa era o facho da Revolução, dc que Bonaparte nunca deixou de ser o filho e o epígono. O imperador parvenu, que subiu com tanta gula ao leito de Áustria, nunca deixou de sentir den tro do peito 0 mesmo coração de jo vem general do Diretório. E o que / V
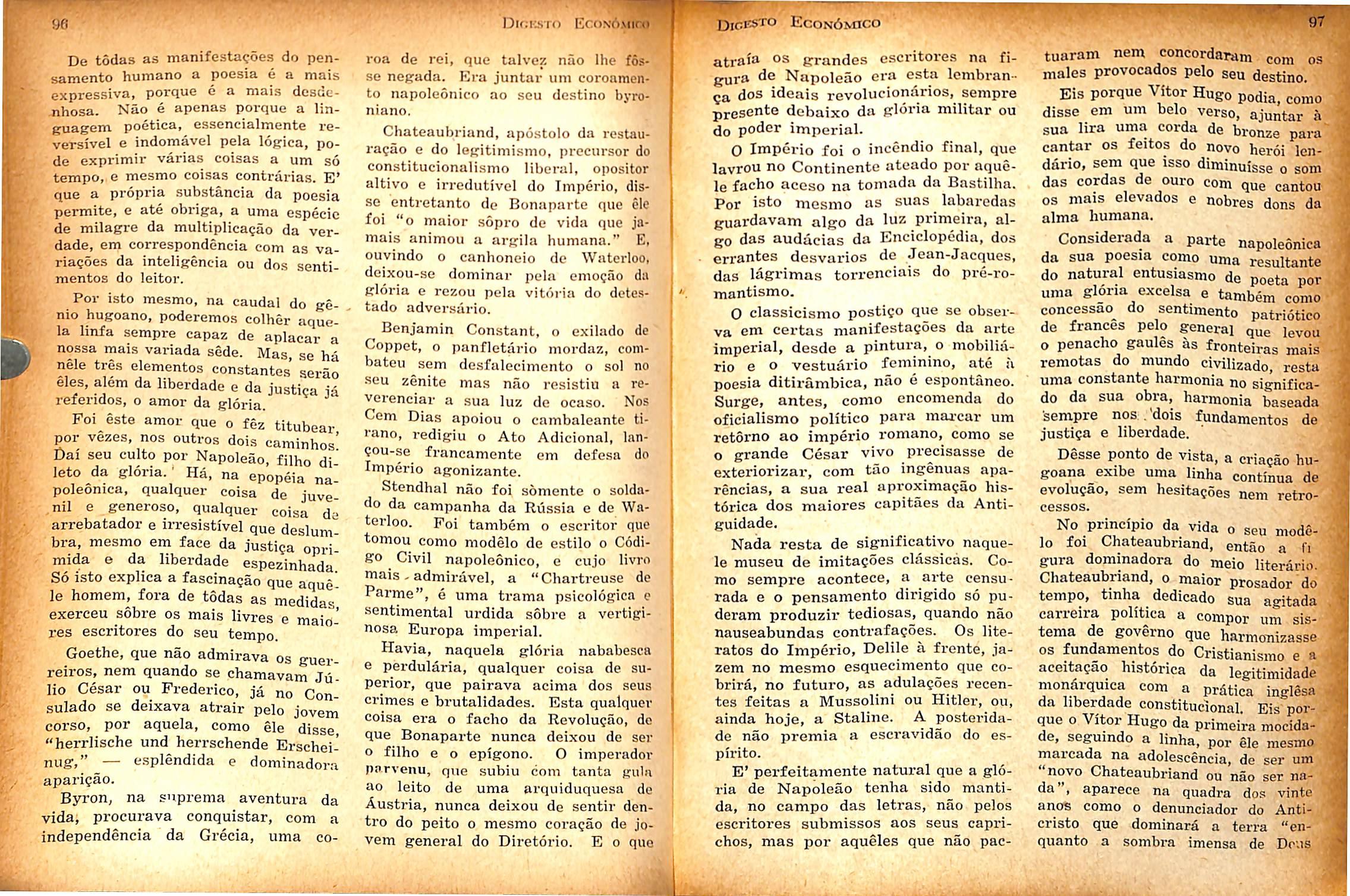
|}u;i:sro 96
l.
tomou como modelo de estilo o Códi- j ffo Civil napoleônico, mais - admirável, Parme”, é uma trama psicológica o sentimental urdida sobre a vertiginosa Europa imperial.
atraía os prrandes escritores na fi^ra àc Napoleão era esta Icmbrandos ideais revolucionários, sempre sente debaixo da ploria militar ou ça pre do poder imperial.
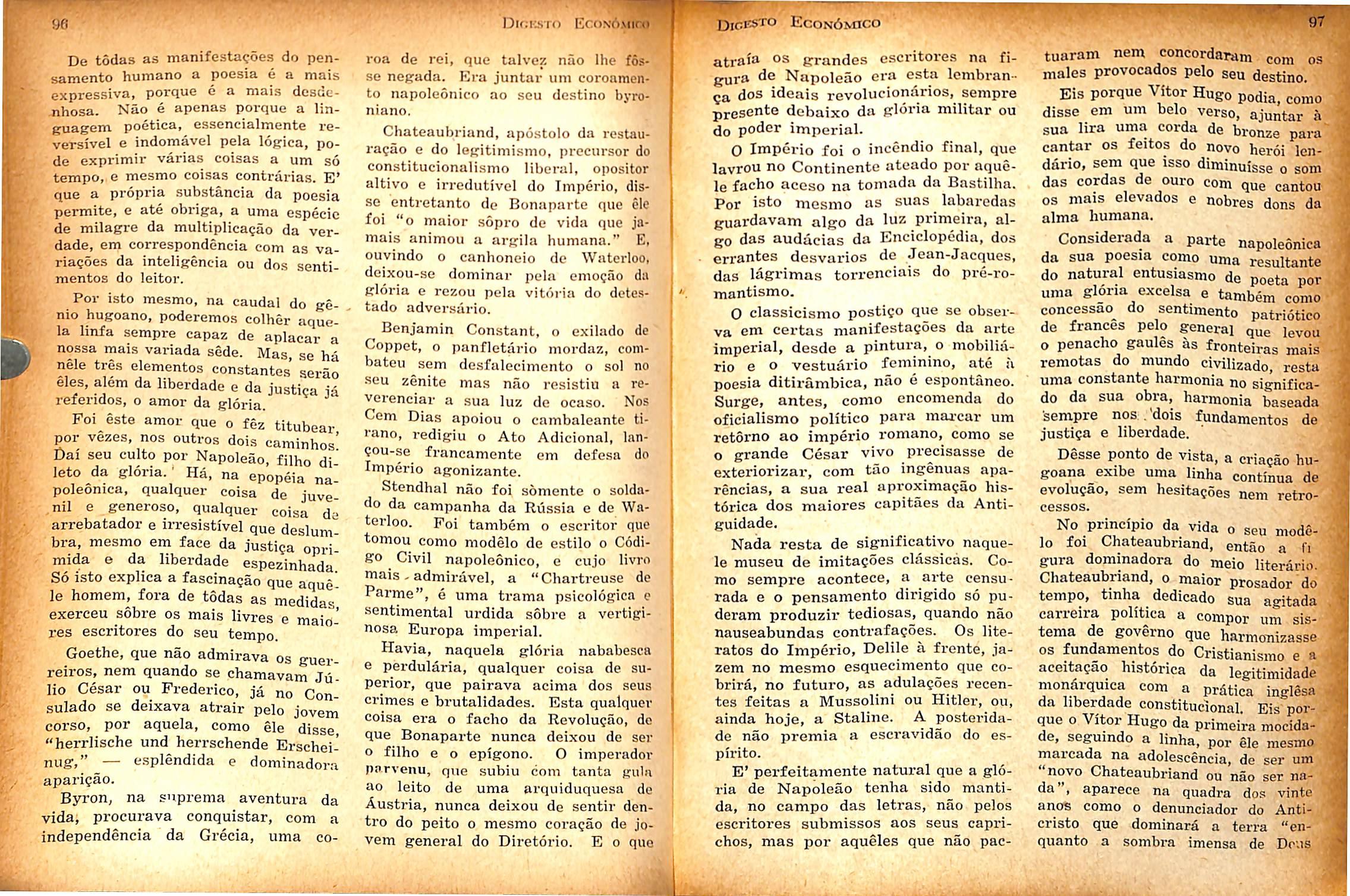
O Império foi o incêndio final, que lavrou no Continente ateado por aque le facho aceso na tomada da Bastilha. Por isto mesmo as suas labaredas íTuardavam alffo da luz primeira, al go das audácias da Enciclopédia, dos errantes desvarios de Jean-Jacques, das lágrimas torrenciais do pré-romantismo.
O classicismo postiço que se obsercm certas manifestações da arte imperial, desde a pintura, o mobiliáfeminino, até à
va rio e o vestuário poesia ditirumbica, nao é espontâneo. Surge, antes, como encomenda do oficialismo ijolítico paru mar-car um retorno ao império romano, como se grande César vivo precisasse de exteriorizar, com tao ingênuas apa rências, a sua real aproximação his tórica dos maiores capitães da Anti-
o guidade.
Nada resta de significativo naque le museu de imitações clássicas. Co mo sempre acontece, a arte censu rada e o pensamento dirigido só pu deram produzir tediosas, quando não nauseabundas contrafações. Os lite ratos do Império, Delile a fronte, ja zem no mesmo esquecimento que co brirá, no futuro, as adulações recen tes feitas a Mussolini ou Hitler, ou, ainda hoje, a Staline. A posterida de não premia a escravidão do es pírito.
E’ perfeitamente natural que a gló ria de Napoleão tenha sido manti da, no campo das letras, não pelos escritores submissos aos seus capri chos, mas por aqueles que não pac-
tuaram nem concordaram com os males provocados pelo seu destino.
Eis porque Vítor Hugo podia, como disse em um belo verso, ajuntar à sua lira uma corda de bronze para cantar os feitos do novo herói len dário, sem que isso diminuísse das cordas de ouro 0 som com que cantou
os mais elevados e nobres dons da alma humana.
Considerada a parte napoleônica da sua poesia como uma resultante do natural entusiasmo de poeta por uma glória excelsa e também como concessão^ do sentimento patriótico de francês pe o general que levou o penacho gaules às fronteiras mais remotas do mundo civilizado, resta uma constante harmonia no significa do da sua obra, harmonia baseada sempre nos 'dois fundamentos de justiça e liberdade.
Dêsse ponto de vista, a criação hugoana exibe uma linha evolução, sem hesitações cessos.
contínua de nem retro-
No princípio da vida lo foi Chateaubriand, gura dominadora do meio literário. Chateaubriand, o maior prosador do tempo, tinha dedicado sua agitada carreira política a compor um sis tema de governo que harmonizasse fundamentos do Cristianismo e a aceitação histórica da legitimidade monárquica com a prática inglesa da liberdade constitucional. Eis por que o Vítoi* Hugo da primeira mocida de, seguindo a linha, por êle mesmo marcada na adolescência, do ser um “novo Chateaubriand da”,
0 seu modêentão n fi os ou nao ser naaparece na quadra dos vinte como 0 denunciador do Anti- anos cristo que dominará a terra quanto a sombi-a imensa de Deus en-
Dicfsto EcoNÓNnco 97
no seu deserto”; em todos os setores da vida. Não se o rcssur- pode negar parentesco entre a ● ba¬ talha do Ilernani” c a revolução de 1830, Parentesco (jue o própro Ví tor Hugo acentua no prefácio fa suo peça, ao ligar profèlicamente o ro mantismo à revolução liberal. “O ro mantismo militante, disso êlo, é o nas liberalismo em literatura”.
passa e repassa como o poeta que compara " gimento de Henrique IV, fundador da dinastia legal, com o esqueci mento do usurpador Bonaparte; co mo o pensador que considerava bri tânicamente que a salvação da Fran ça estava em que “o rio popular cor resse à sombra do trono, apoiado L leis.
Mas os Bourbons restaurados, den tro daquela Europa reacionária da Sarita Aliança, retrocediam a pouco ao absolutismo dos
\ , _ seus avos. O liberalismo do fachada cedia lentamente, apesar dos protestos dos . liberais verdadeiros. que achavam que a única salvação para o trono seria a prática si ra da Constituição do 1814, XVIII a Carlos X gressista prossegue Carlos X voltou
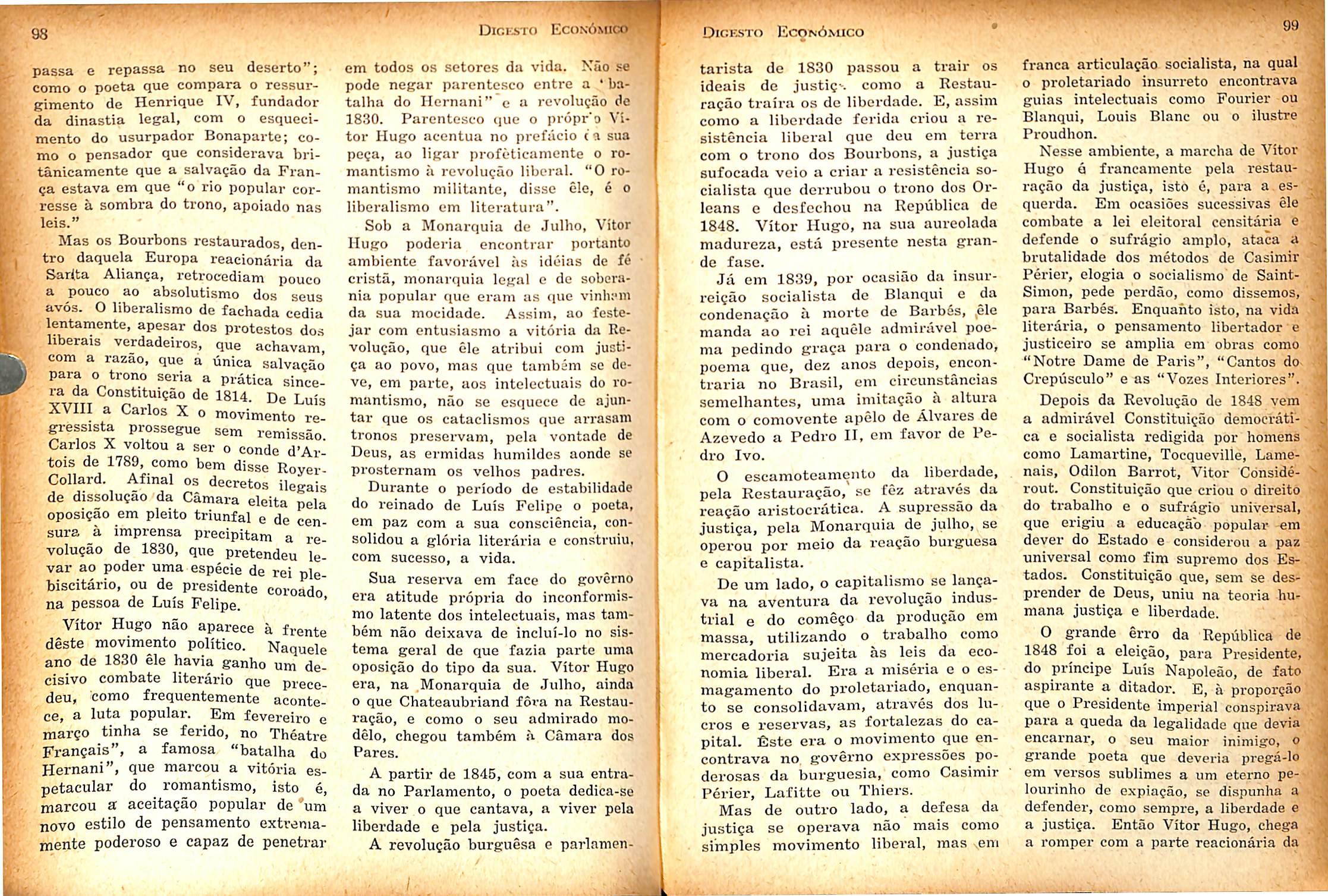
com a razão. sinceDe Luís movimento i‘e- 0 remissão, a ser o conde d’A
sem rei plecoroado.
Sob a Monaríjuia de Julho, Vítor Hugo poderia encontiar portanto ambiente favorável às idéias de fé pouco cristã, monarípiia legal e de sobera nia popular <[ue eram as «lue vinhrm a da sua mocidade. Assim, ao feste jar com entusiasmo a vitória da Re volução, que êle atril)ui com justi ça ao povo, mas que também sc de ve, em parte, aos intelectuais do ro mantismo, não se esíiuece de ajuntar que os cataclismos iiuo arrasam tronos preservam, pela vontade de Deus, as ermidas humildes aonde se prosternam os velhos padres.
, r-
tois de 1789, como bem disse Rover Collard. Afinal os decretos ilegais de dissolução da Câmara eleita pela oposição em pleito triunfal e de cen sura à imprensa precipitam a volução de 1830, que pretendeu var ao poder uma espécie de biscitário, ou de presidente na pessoa de Luís Felipe.
Durante o período de estabilidade do reinado de Luís Felipe o poeta, em paz com a sua consciência, cona re- solidou a glória literária e construiu, le- com sucesso, a vida.
Sua reserva em face do governo era atitude própria do inconforniismo latente dos intelectuais, mas tam bém não deixava de incluí-lo no sis tema geral de que fazia parte uma oposição do tipo da sua. Vítor Hugo que prece- era, na Monarquia do Julho, ainda aconte- o que Chateaubriand fôva na RestauEm fevereiro e ração, e como o seu admirado mo delo, chegou também à Câmara dos Pares.
t r. I Hernani”, que marcou a vitória es petacular do romantismo, isto é, marcou a aceitação popular de um estilo de pensamento extvema- novo mente poderoso e capaz de penetrar
A partir de 1845, com a sua entra da no Parlamento, o poeta dedica-se a viver o que cantava, a viver pela liberdade e pela justiça.
A revolução burguêsa e parlamen-
f 98 Dini-sTO Kconómico í
►
Vítor Hugo não aparece à frente dêste movimento político. Naquele ano de 1830 êle havia ganho um de cisivo combate literário deu, como frequentemente ce, a luta popular, março tinha se ferido, no Théatre ' Français”, a famosa “batalha do í L.
tarista de 1830 passou a trair os ideais de justiç--. como a Restau ração traíra os de liberdade. E,assim como a liberdade ferida criou a re sistência liberal que com o trono dos Bourbons, a justiça sufocada veio a criar a resistência so cialista que derrubou o trono dos Orleans c desfechou na República de 1848. Vítor Hugo, na sua aurcolada madureza, está presente nesta gran-
deu eni terra de fase.
Já em 18.39, por ocasião da insurdc Blanqui e da rcição socialista condenação à morto de Barbés, ele manda ao rei aquêlo admirável j>oema pedindo graça i>ara o condenado, , dez anos depois, enconBrasil, em circunstâncias imitação à altura
poema que, traria no semelhantes, uma comovente apêlo de Álvares de Azevedo a Pedro II, em favor de Pecom o
dro Ivo.
franca articulação socialista, na qual o proletariado insurreto encontrava guias intelectuais como Fourier ou Blanqui, Louis Blanc ou o ilustre Proudhon.
Nesse ambiente, a marcha de Vitor Hugo ú francamente pela restau ração da justiça, isto é, para a es querda. Em ocasiões sucessivas êle combate a lei eleitoral censitária e defende o sufrágio amplo, ataca a brutalidade dos métodos de Casimir Périer, elogia o socialismo de SaintSimon, pede perdão, como dissemos, para Barbes. Enquanto isto, na vida literária, o pensamento libertador e justiceiro se amplia em obras como “Notre Dame de Paris”, “Cantos do Crepúsculo” e as “Vozes Interiores”.
se
O escamoteamento da liberdade, " ' fêz através da pela Restauração, reação aristocrática, justiça, pela Monarquia de julho, se da reação burguesa
Depois da Revolução de 1848 vem a admirável Constituição democráti ca e socialista redigida por homens como Lamartine, Tocqueville, Lamenais, Odilon Barrot, Vitor Considérout. Constituição que criou o direito do trabalho e o sufrágio universal, que erigiu a educação popular em dever do Estado e considerou a paz
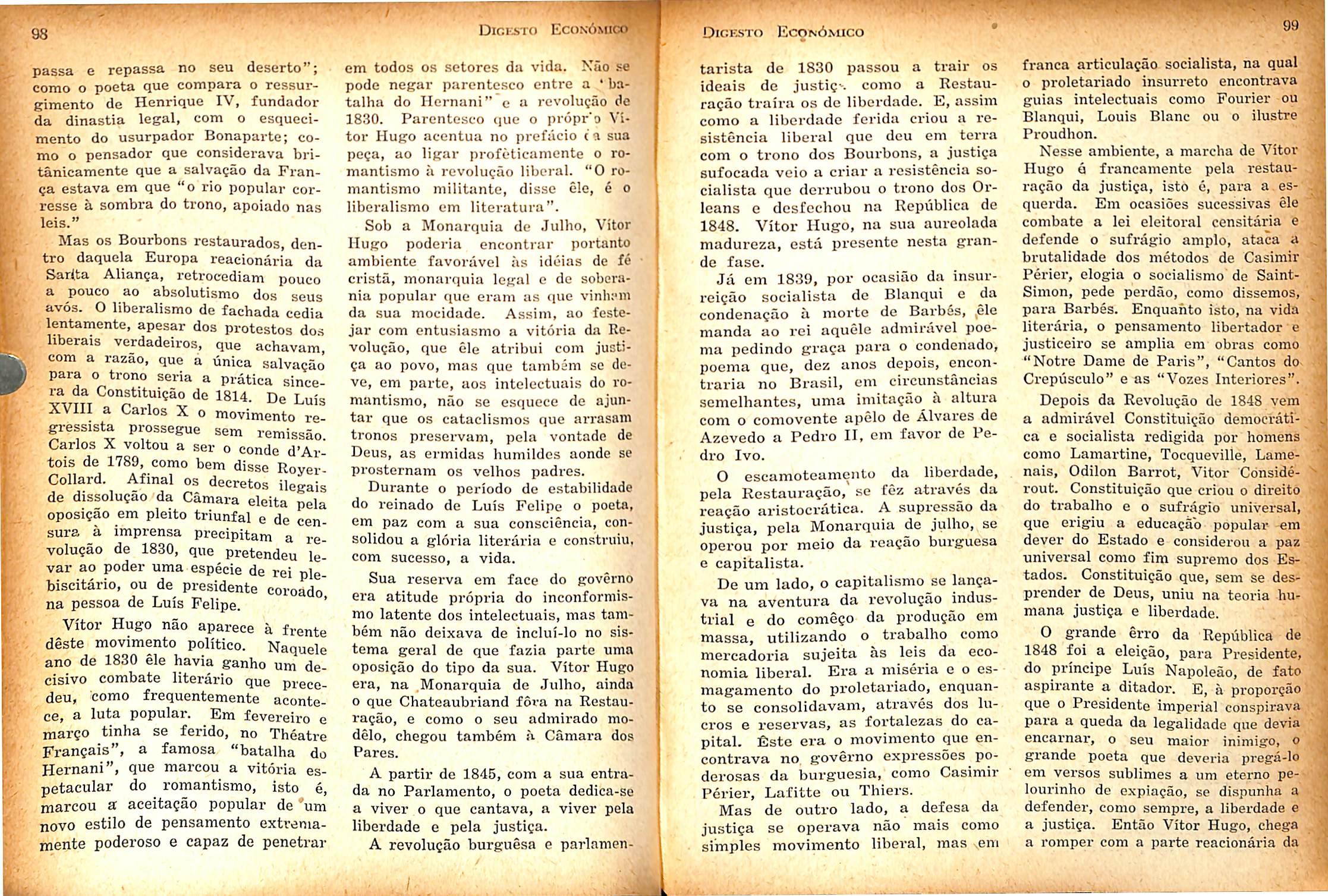
A supressão da operou por meio universal como fim supremo dos Es tados. Constituição que, sem se des prender de Deus, uniu na teoria hu mana justiça e liberdade.
e capitalista.
De um lado, o capitalismo se lançaaventura da revolução indus- va na trial e do começo da produção em massa, utilizando o mercadoria sujeita às leis da ecoEra a miséria e o es-
trabalho como nomia liberal,
o seu maior inimigo, o pitai. Êste era o movimento que en contrava no governo expressões po derosas da burguesia, como Casimir Périer, Lafitte ou Thiers.
Mas de outro lado, a defesa da justiça se operava simples movimento liberal, mas em
nao mais como
0 grande êrro da República de 1848 foi a eleição, para Presidente, do príncipe Luís Napoleão, de fato aspirante a ditador. E, à proporção magamento do proletariado, enquan to se consolidavam, através dos lufortalezas do ca- cros e reservas, as que o Presidente imperial conspirava para a queda da legalidade que devia encarnar, grande poeta que deveria pregá-lo em versos sublimes a um eterno pe lourinho do expiação, se dispunha a defender, como sempre, a liberdade e a justiça. Então Vítor Hugo, chega a romper com a parte reacionária da
99 Dicksto Econômico
Igreja, inclusive com seu antigo ami^ go Montalembert, porque entende que Ç o catolicismo deixava de ser cristão tornar instrumento de um para se poder que aspirava à tirania. O inevitável aconteceu. O Presi-
do govêrno ditatorial exposta; en quanto aquêle monto de lixo e faus to da ditadura se via furiosamente revolvido por tenazes ardentes.
Mas ao fracasso interno sucede a
& dente, traidor das esperanças do po vo, deu o golpe de Estado de dezem bro de 1851 e o país mergulhou na ' trcva da ditadura. Vítor Hugo é dos que, naquele Paris transido, se põem Triste foi, . naqueles dias, a sorte dos intelectuais ' democratas. O povo estava adorme^ cido ante o golpe e, até certo ponto, , esperançoso nos falsos benefícios de uma ditadura Inutilmente
/ à frente da resistência. que se dizia popular.
E' o poeta ignomínia da derrota, logo esquecido dc tudo <iue sofreu como francês, limpando os olhos das lágrimas dos próprios e terríveis gol pes que tinham assaltado a sua vida íntima, acorre para suster com o bra-
ço a França mal-fcrida.
t. s ,
I^ os deputados, eles Vítor Hugo, tentaram ^ a Constituição democrática, mente um dêles, Baudin barricada enfrentando a tropa dita torial. Estava morta a liberdade nome de uma falsa justiça. Só tava ao poeta o exilio vingador.
e entre
defender . Inütilmorreu na em res-
E’ a Comuna c o sangue tingindo o Sena. E’ a repressão brutal contra a cidade heróica, que a reação de sencadeia, protegida pelos canhões do prussiano. Mas para Vítor Hugo é Ano Terrível”, que ele fixa no título e nos versos dolorosos de uni novo livro.
o e liberdade, cia repressiva.
no Jana que mosPo-
Sua tremenda vingança está sangrentos poemas compostos nos exílio contra o Segundo Império, mais a língua francesa, e talvez ne nhum outro idioma ofereceu demons tração de maior e mais destrutivo poder na agressão, no sarcasmo, queixa e no desespero do r tram os versos de fogo qüe Vítor Hugo incluiu nos “Châtiments”. de-se dizer que o Império, antes de Sedan, já tinha desabado sob o im pacto de lava daquele vulcão de poe sia incandescente.
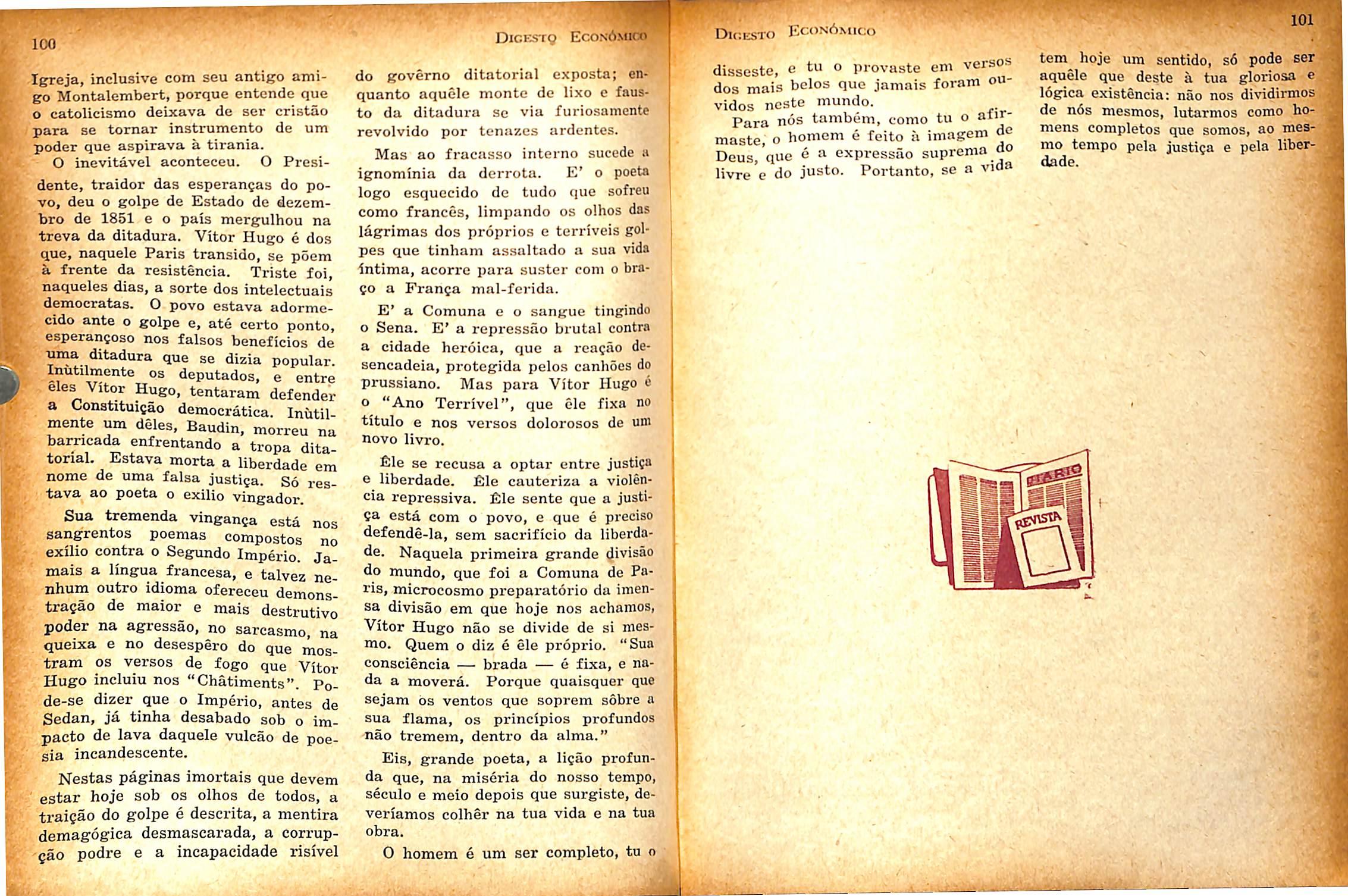
Ifr r I Nestas páginas imortais que devem estar hoje sob os olhos de todos, traição do golpe é descrita, a mentira demagógica desmascarada, a corrup ção podre e a incapacidade risível
a
Êle se recusa a optar entre justiça Êle cauteriza a violênÊle sente que a justi ça está com o povo, e que é preciso defendê-la, sem sacrifício da liberda de. Naquela primeira grande divisão do mundo, que foi a Comuna de Pa* ris, microcosmo preparatório da imen sa divisão em que hoje nos achamos, Vítor Hugo não se divido de si mes mo. Quem o diz 6 êle próprio, consciência — brada — é fixa, e na da a moverá. Porque quaisquer que sejam os ventos que soprem sôbre a sua flama, os princípios profundos não tremem, dentro da alma.”
Sua
Eis, grande poeta, a lição profun da que, na miséria do nosso tempo, século e meio depois que surgiste, de veriamos colher na tua vida e na tua obra.
0 homem é um ser completo, tu o
Díckstç Ecosò.vnm ICO í
versos disseste, ® ® provaste em dos mais belos que jamais foram ou vidos neste mundo.
Para nós também, como tu o homem é feito a imagem afir d maste d e , o Deus, que ó a expressão suprema livre e do justo. Portanto, se v a o ida
tem hoje um sentido, s6 pode ser 1 aquêle que deste à tua gloriosa e ^ lógica existência: não nos dividirmos de nós mesmos, lutarmos como ho- ^ mens completos que somos, ao mes mo tempo pela justiça e pela liber dade.
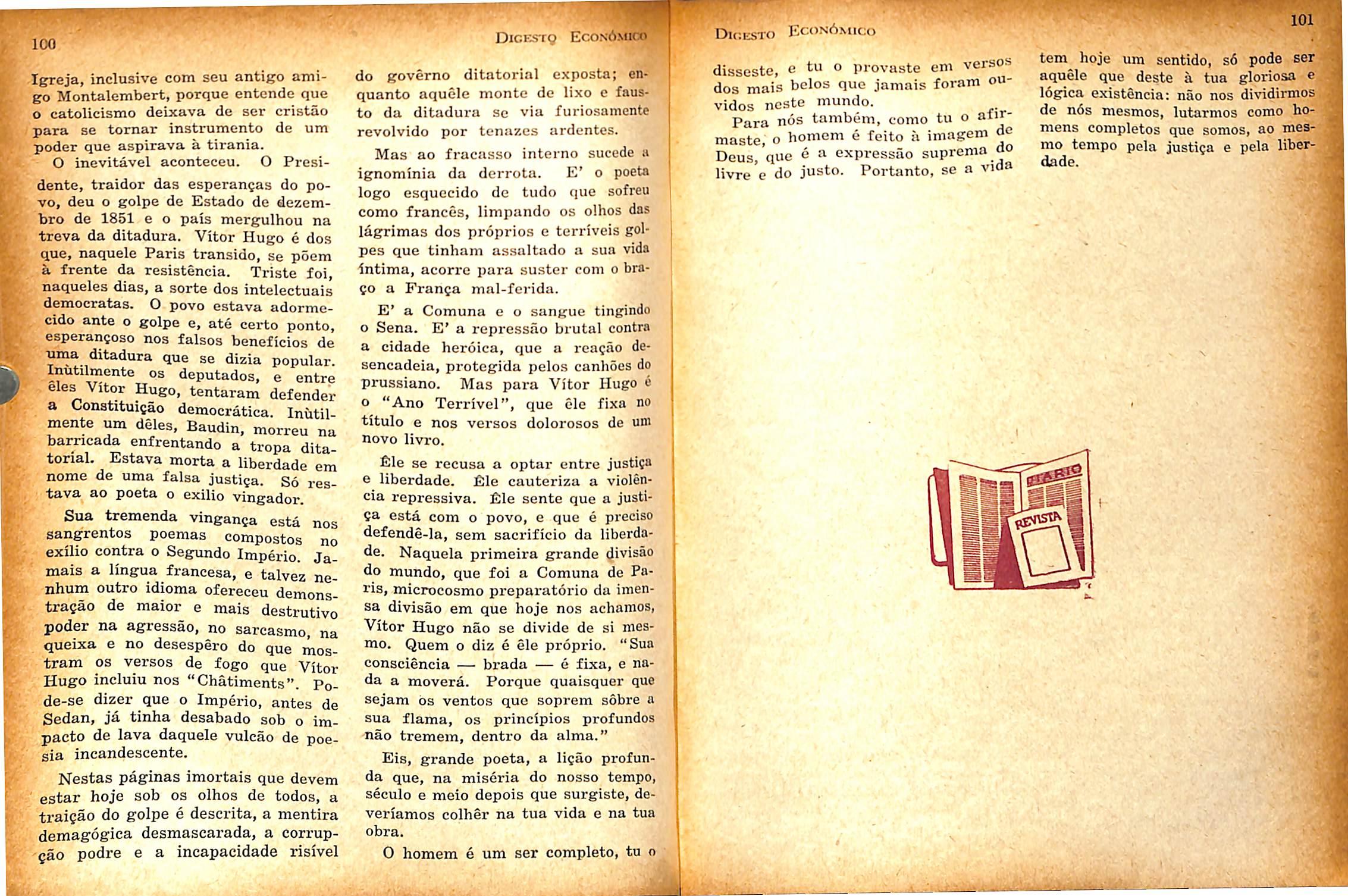
101 Kconòmico Dif.ESTO
●? í ! 'i ,1
f i i 5 !
\
A FOME NO MUNDO
Estanlslau í''iSí;in.own/, J I
Se o único mérito da grande obra do professor JOSUÉ DE CASTRO ●: dedicada à “Geopolítica da Fome” fosse o de romper a conspiração de silencio em torno dêsse vital e ãngustioso problema da humanidade de to dos os tempos, inclusive o seu lugar ficaria desde mente estabelecido, uma sempre, na literatura científica
cromca, aos
que, para todos ser equiparados,
4.
autor brasileiro reserva um lugar de destaque, ao lado da forma global, epidêmica, endêmica c estados de fome parcial c oculta, dc subnutrição aguda os efeitos, podem perfeitamente, à fome no seu senti do tradicional, principais fatores de erosão do poten cial humano, palhada , a humanidade.
A forno é um dos É a tloença mais ese mais grave de que sofre Segundo a brilhante
ao mesmo tempo, a a pior das consequênCom efeito í
complexo orgulhoso de de cue está ^oí.^rdo'': sente que, no seu subconseiente de.xa de acreditar, apesar d” íôdus as Vic.ss.tudes da época atual oue ● conseguiu atmgir um grau perfel^ de pi-ogresso material, ignorado passado. Ora, a existência no corpoda humanidade da chaga vcrgo^hÒsr da fome, considerada até então, erra damente, como mal dos temp tos, de economia atrasada tar e subdesenvolvida, pré-capitalista, é nitidamente ineom pativel com esses conceitos falado sos e exageradamente otimistas JOSUÉ DE CASTRO
os nos.sos, jn firmevez para conna sua em o não no os remoi’udimenepoca da é í-onipou cHte
convincente no seu novo livro que o fenômeno da fome em massa existe neste mundo dos meados do século XX. Submeten do a uma revisão científica a própria noção rotineira da forno,
tabu e provou de modo 0 ilustre
, 2/3 da população mundial continuam subali mentados, sendo que 85'/o vivem em i‘egime de fome. Seria portanto im possível tentar interpretar a “revolu ção social contemporânea , entramos, há mais de 33 a levar

em que anos, sem
● consideração sua principal justificativa: a fome.
Esse fenômeno foi exposto cientificamente, pela primeira vez, em tôda ^ sua amplitude, no livroÇo, publicado simultaneamente quatro idiomas. Uma coisa pai'ece portanto certa; não será doravante poBBível tentar uma análise tio i’üllia econômico-.social, no período du maior crise da humanidade vessamos atualmente, sem examinar os raciocínios aprofundados nais des.sa obra dedicada aos aspectos mais dramáticos de.ssa crise univer sal; à fome, à inanição, à subalimcn-
em apreem jianoque ntrae origi-
I* ii ;í
observação do Lorde John Bovd Orr, formulada no Prefácio desta obra. ola tem sido, mais perigosa das forças políticas”, con.stituindo cias da miséida
tação de centenas de milhões da po pulação mundial.
Com efeito, na análise dessa rele vante questão, o eminente sociólogo e nutricionista patrício não incide num êrro ba.stante comum em todos os trabalhos monográficos, dedicados a um problema isolado: não o separa artificialmente do conjunto dos pro blemas afins o correlato.s, considerando-o de por si e emprestando-lhe im portância exclusiva e central, mas sim, situa-o como parte integrante do panorama geral do mundo, como um sintoma só, aliás particularmente gravo e angustioso, da crise econômi ca e social contemporânea.
Seria impossível colocar em seus devidos termos o problema em aprêço sem tal interpretação ampla e pro funda da fome, como fenômeno resul tante não somente dos fatores geogi”áficos, ecológicos, biológicos e de mográficos, como também da rela ção entre a produção e o consumo dos alimentos, portanto, em última aná lise, do sistema vigente econômico e social em sua íntegra. Como repara o autor com muito acerto, “a fome coletiva é um fenômeno de categoria social, provocado, via de regra, pelo aproveitamento inadequado das possi bilidades e dos recursos materiais ou pela má distribuição dos bens de con sumo obtidos”.
Graças ao emprego de tão aper feiçoada metodologia, a obra do prof. JOSUÉ DE CASTRO tem assegura da a sua poíiiçüo definitiva entre* oa principais subsídios da ciência füii-
temporíinoa para o diagnóstico e te rapêutica dos principais males que as solam atualmente a l\umanidade, a mesma que cabe a Laski, Northman, Mannheim, Ortega y Gasset no que diz respeito ao pensamento de filoso fia social, a Lorde Beveridge quanto aos rumos da reforma social integral ou a Seebohm Rowntree quanto à questão do pauperismo urbano, e mui to acima do lugar que* ocupam na li teratura dedicada à matéria em foco, as obras de Lorde Boyd Oit, Fairfield Osborne e William Vogt.
- A incidência da fome no mundo, como ficou exposta no trabalho do prof. JOSUÉ DE CASTRO, é de fa to espantosa. Basta apontar que apenas um entre seis habitantes do globo dispõe na sua dieta diária do minimo modesto de 1750 calorias.

E’ possível tentar delimitar algu mas fronteiras geográficas da inci dência da fome em massa; entretanto, essa linha de demarcação atravessa as fronteiras políticas, separando, dentro do mesmo país, da mesma re gião ou localidade, “famintos”; própria noção da “geografia da fo me”.
os “fartos” e os daí a relatividade da
O sóbrio realismo na apresentação dêsses problemas pelo Autor não po dería porém ser identificado com uma apreciação pessimista. Muito pelo contrário, êle defende quanto à possi bilidade de debelar êsse flagelo, o ponto de vista nitidamente oposto às teses pessimistas que parecem pre valecer nu (liaoussõo atual em tôrno
j03 Dici-:sto Ect)NÓ-\uco
-s-
dêsse problema. Essas doutrinas po dem ser, a rigor, classificadas, distinguindo-se duas cori-entes de pensa mento tipicamente pessimistas e fa talistas: a demográfica e a ecológico-biológica.
a Europa das Nações Unidas (“Survey of Europe in 1051”), enquanto a produção industrial da URSS au mentou na última década em XOO^o, produção da agricultura acusa no mesmo período o índice de aumento de apenas 7%.
a 1 II Não convém simplificar a crítica ao neomalthusianismo, deslocando-se o ponto de gravidade da polêmica paa refutação das teses originais, muito rudimentares e primitivas, de 1. H. Malthus, formuladas no “Essay on the Principie of Population” de 1798 a respeito do aumento geométri co da população, supostamente acom panhado pelo aumento ajKmas arit mético dos recursos alimentícios. Não adianta tão “com cada
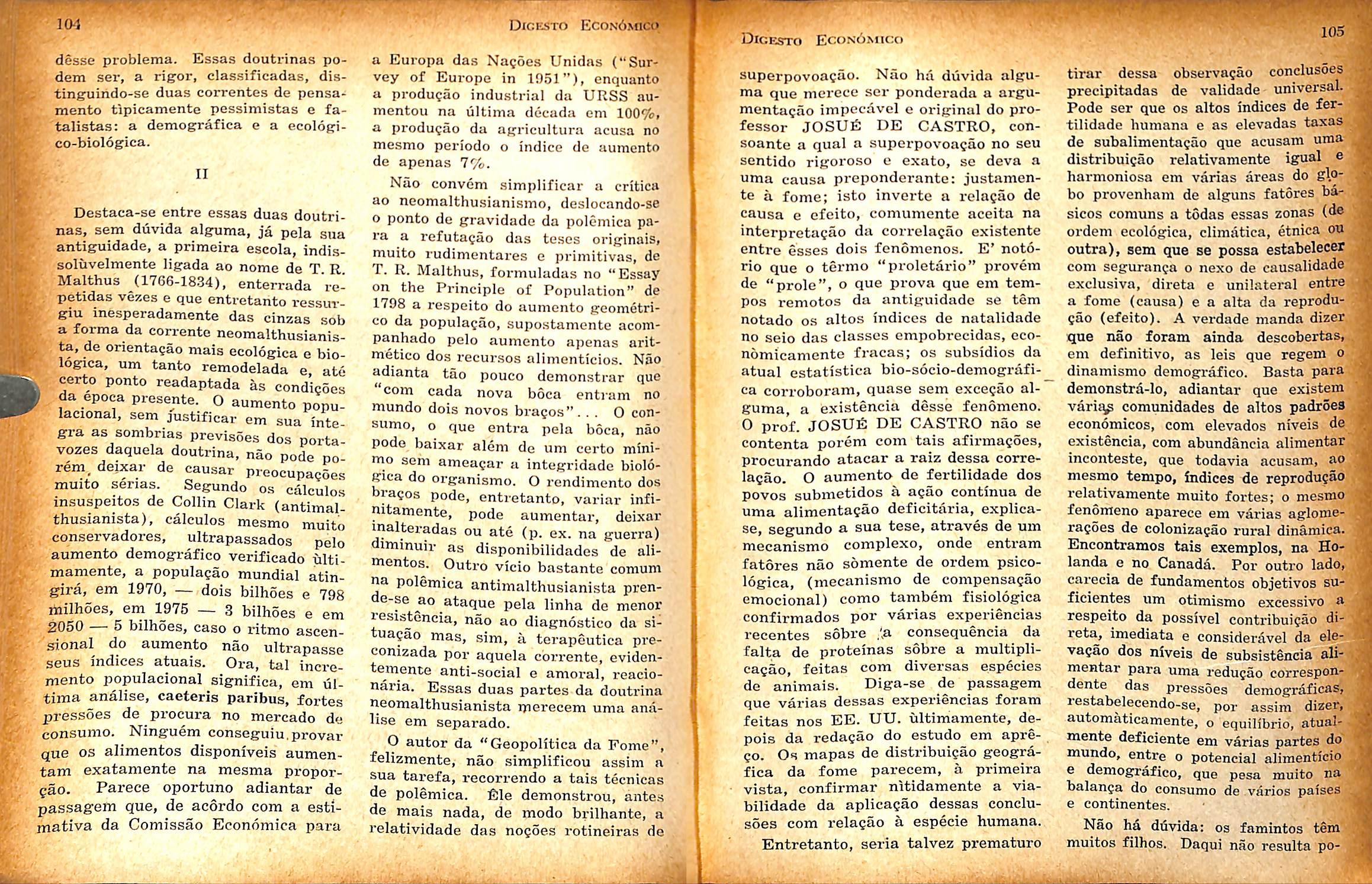
Destaca-se entre es.sas duas doutri nas, sem dúvida alguma, já pela sua antiguidade, a primeira escola, indissolüvelmente ligada ao nome de T. R. Malthus (1766-18.34), enterrada petidas vêzes e que entretanto ressur giu inesperadamente das cinzas sob a forma da corrente neomalthusianií; ta, de orientação mais ecológica e bio lógica, um tanto remodelada e, até certo ponto readaptada às condições da epoca presente. O aumento lacional, sem j^ustificar gra as sombrias vozes daquela doutr rém_ deixar de muito sérias.
respopuem sua ínteprevisõe.s dos porta-ina, não pode popreocupações Segundo os cálcul causar
i-a pouco demonstrar que nova bôca entram no
mundo dois novos braços”. .. O conque entra jiela bôca, não podo l)aixar além do um certo míni mo sem
sumo, o ameaçar a integridade bioló os
in.suspeito.s de Collin Clark (antimalthusianista), cálculos conservadores, aumento demográfico verificado íilti mamente, a população mundial atin girá, em 1970, — dois bilhões milhões, em 1975 — 3 bilhões 2050 5 bilhões, caso o ritmo ascen-
mesmo muito ultrapassados pelo iG 798 e em sional do aumento não ultrapasse seus índices atuais, mento populacional significa tima análise, caeteris paribus, fortes pressões de procura no mercado de consumo. Ninguém conseguiu.provar que os alimentos disponíveis tam exatamente na mesma proporParece oportuno adiantar de
Ora, tal increem úlaumenção.
gica do organismo. O rendimento dos braços pode, entretanto, variar infimtamente, pode aumentar, deixar inalteradas ou até (p. ex. na guerra) diminuir ns disponibilidades de ali mentos. Outro vício bastante comum na polêmica antimalthusianista de-sG pren. ataque pela linha dc menor lesistcncia, não ao diagnóstico da siuação mas, sim, à terapêutica pre conizada por aquela corrente, eviden temente anti-social e amoral, reacio nária. Essas duas partes da doutrina neomalthusianista lise em separado. merecem uma ana-
O autor da “Geopolítica da Fome”, felizmente, não simplificou assim a sua tarefa, recorrendo a tais técnicas de polêmica. Êle demonstrou, ante.s de mais nada, de modo brilhante, relatividade das noções rotineiras do a passagem que, de acordo com a esti mativa da Comissão Econômica para
10-1 üioiisTO Econômico
superpovoação. Não há dúvida algu ma que merece scr ponderada a argu mentação impecável e original do pro fessor JOSUÉ DE CASTRO, con soante a qual a .superpovoação no seu sentido rigoroso e exato, sc deva a uma causa preponderante: justamen te à fome; isto inverte a relação de causa e efeito, comumento aceita na interpretação da correlação existente entre êsses dois fenômenos. E’ notó rio que o têrmo “proletário” provém de “prole”, o que prova que em tem pos remotos du antiguidade se têm notado os altos índices de natalidade no seio cias classes empobrecidas, econòniicamento fracas; os subsídios da atual estatística bio-sócio-demográfica corroboram, quase sem exceção alexistôncia dêsse fenômeno. guma, a O proL JOSUÉ DE CASTRO não se contenta porém com tais afirmações, procurando atacar a raiz dessa corre lação. O aumento do fertilidade dos submetidos à ação contínua de povos uma alimentação deficitária, explicase, segundo a sua tese, através de um complexo, onde entram mecanismo fatores não somente de ordem psico lógica, (mecanismo dc compensação emocional) como também fisiológica confirmados por várias experiências consequência da recentes sobre ,',a falta de proteínas sobre a multiplidiversas espécies
Diga-se de passagem cação, feitas com de animais, que várias dessas experiências foram feitas nos EE. UU. ültimamente, de pois da redação do estudo em apre ço. Os mapas de distribuição geográ fica da fome parecem, à primeira vista, confirmar nitidamente a via bilidade da aplicação dessas conclurelação à espécie humana. soes com Entretanto, seria talvez prematuro
tirar dessa observação conclusões precipitadas de validade universal. Pode ser que os altos índices de fer tilidade humana e as elevadas taxas de subalimentação que acusam uma distribuição relativamente igual e harmoniosa em várias áreas do glo bo provenham de alguns fatores bá sicos comuns a todas essas zonas (de ordem ecológica, climática, étnica ou outra), sem que se possa estabelecer com segurança o nexo de causalidade exclusiva, direta e unilateral entre a fome (causa) e a alta da reprodu ção (efeito). A verdade manda dizer que não foram ainda descobertas, em definitivo, as leis que regem o dinamismo demográfico. Basta para demonstrá-lo, adiantar que existem várií\^ comunidades de altos padrões econômicos, com elevados níveis de existência, com abundância alimentar inconteste, que todavia acusam, ao mesmo tempo, índices de reprodução relativamente muito fortes; o mesmo fenômeno aparece em várias aglome rações de colonização rural dinâmica. Encontramos tais exemplos, na Ho landa e no Canadá, carecia de fundamentos objetivos su ficientes um otimismo excessivo a respeito da possível contribuição di reta, imediata e considerável da ele vação dos níveis de subsistência ali mentar para uma redução correspon dente das restabelecendo automaticamente, mente deficiente em várias partes do mundo, entre o potencial alimentício e demográfico, que pesa muito na balança do consumo de vários países e continentes.
Por outro lado pressões demográficas, --se, por assim dizer, equilíbrio, atual-
Não há dúvida: os famintos têm muitos filhos. Daqui não resulta po-
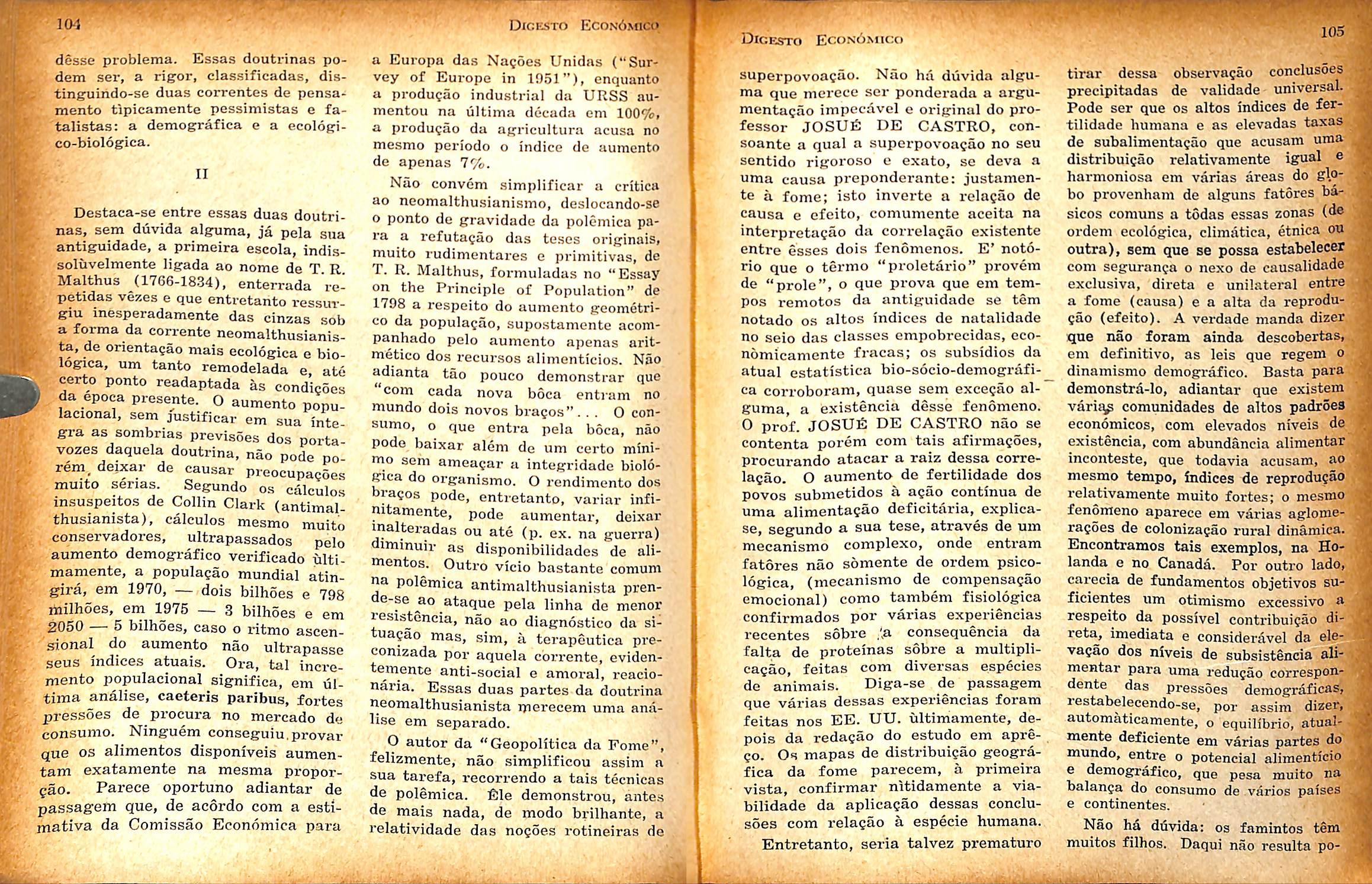
105 Dicesto Económic:o
a age nesse i. 1 J
sentido não pode, aliás, ser aprecia do sob o ângulo estreito dos elemen tos quantitativos de repi'odução. Nas sociedades economicamente evoluídas abastecidas e bem alimentadas, índices reduzidos de natalidade talidade,
) »‘ r í ('
com e moraparecem outros sintomas
prof. JOSUÉ DK CASTRO, ôle não despreza a importância do fator de mográfico em si, fulminando apenas os exageros e as aberrações indiscu tíveis do neomaltliusianismo. A polí tica demográfica é uma realidade que não pode ser mais ignoi-ada. .Acon tece todavia cjue até hoje ela vem .sendo praticada tão sòmcntc pelo.s países ameaçados pela subpovoação, <iue se inspii-a, fretjuentomentc, pelas tendências ultranacionalistas, expansionistas ou mesmo imperialistas dos países ocidentais, visando sempre o fomento a todo preço do aumento da populaçao. Rc.sta sab(*i‘ como e do que modo, rejeitando-se, de acordo com os ensinamentos do ilustre autor brasileiro, as diretrizes anti-humani tárias malthusianistas, podei'-se-iani criar instrumentos do planejamento e dirigismo populacional, capazes de mitigar a situação dramática dos po vos superpovoados mediante
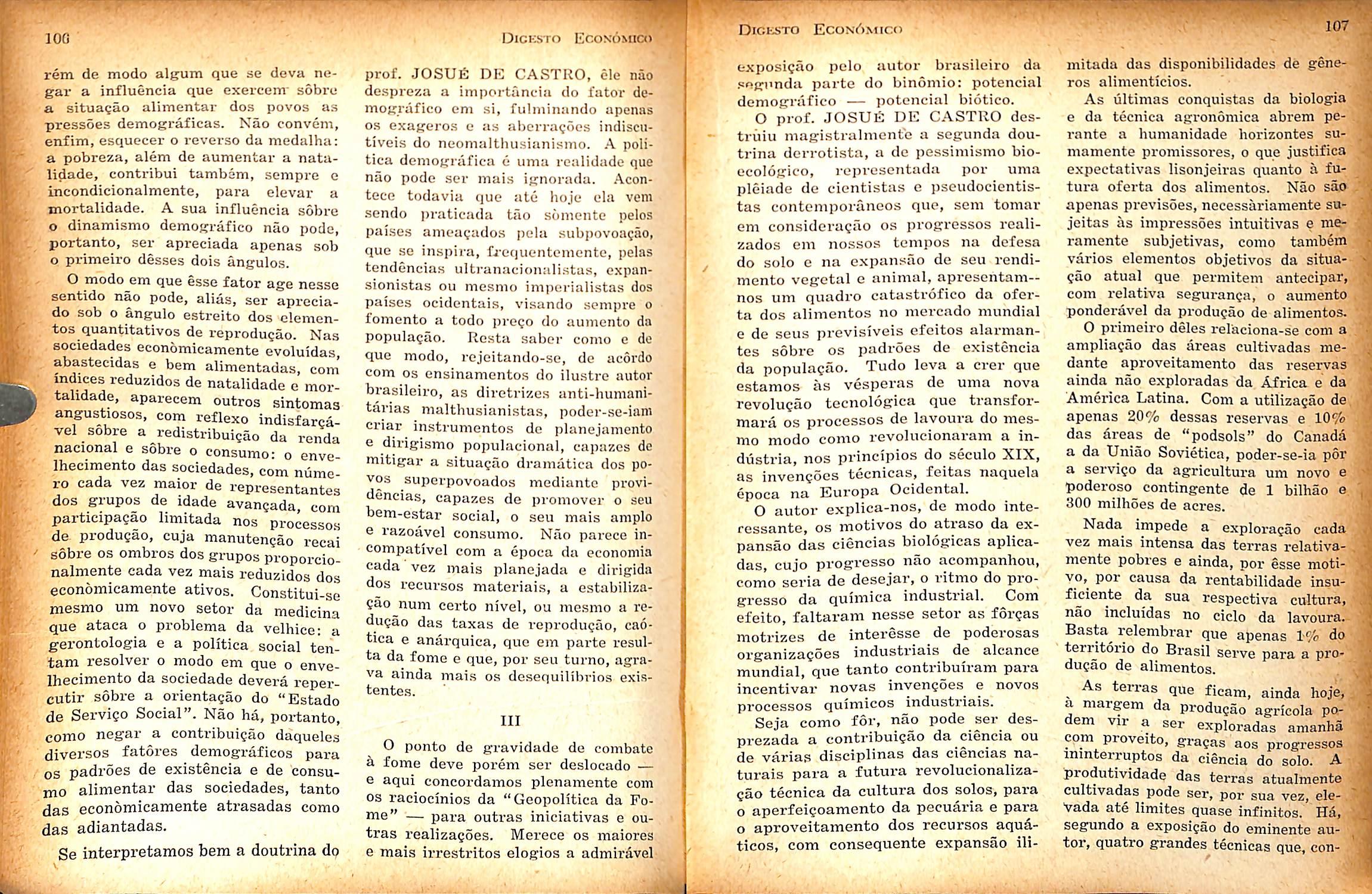
representantes avançada, com -se a pai'a
padrões de existência e de consualimentar das sociedades, tanto os mo das economicamente atrasadas como das adiantadas.
Se interpretamos bem a doutrina do
provio seu
dências, capazes dc promover bem-estar social, o seu mais amplo e razoável consumo, compatível com a época da economia i cada vez mais planejada e dirigida j dos recursos materiais, a estabiliza ção num corto nível, dução das taxas de reprodução, caó tica e anárquica, que em parte resul ta da fome
va ainda mais os desequilíbrios exis tentes.
III
1 angustiosos, com reflexo indisfarçável sobre a redistribuição da renda nacional e sôbre o consumo: o enve lhecimento das sociedades, com núme ro cada vez maior de dos grupos de idade participação limitada nos processos de produção, cuja manutenção recai ● sôbre os ombros dos grupos proporcio nalmente cada vez mais reduzidos dos economicamente ativos. Constitui mesmo um novo setor da medicina que ataca o problema da velhice: gerontologia e a política social ten tam resolver o modo em que o enve lhecimento da sociedade deverá reper cutir sôbre a orientação do “Estado de Serviço Social”. Não há, portanto, como negar a contribuição daqueles diversos fatores demográficos
O ponto de gravidade de combate à fome deve porém ser deslocado e aqui concordamos plenamente com os raciocínios da “Geopolítica da Fo— para outras iniciativas e ou tras realizações. Merece os maiores e Tnais irrestritos elogios a admirável
me
DiCKSTO EcONÓMia) * ■ I0Í5
rém de modo algum que se deva ne gar a influência que exercem sôbrc a situação alimentar dos povos as pressões demográficas. Não convém, enfim, esquecer o reverso da medalha: a pobreza, além de aumentar a natalijiade, contribui também, sempre c incondicionalmente, para elevar mortalidade. A sua influência sôbre o dinamismo demográfico não pode, portanto, ser apreciada apenas sob o primeiro desses dois ângulos. O modo em que êsse fator
Não parece inou mesmo a ree que, por seu tui-no, agra
exposição pelo autor brasileiro da .«ngtmda parte do binômio: potencial demográfico — potencial biótico.
O prof. JOSUÉ UK CASTRO des truiu jnagistralmonfc a segunda dou trina derrotista, a de pessimismo bioecológico, representada por uma plêiade de cientistas c jjseudocientistas contemporâneos que, som tomar em consideração os progressos reali zados em nossos tempos na defesa do solo c na exijansão de sou rendi mento vegetal c animal, apresentam— quadro catastrófico da ofer- nos um ta dos alimentos no mercado mundial e de seus previsíveis efeitos alarman tes sôbrc os })adrões de existência Tudo leva a crer que vésperas de uma nova da população, estamos às revolução tecnológica que transfor mará os processos de lavoura do mes mo modo como revolucionaram a in dústria, nos princípios do século XIX, as invenções técnicas, feitas naquela Ocidental. na Europa epoca
O autor explica-nos, de modo inte ressante, os motivos do atraso da exdas ciências biológicas aplica- pansao
das, cujo progresso não acompanhou, como seria de desejar, o ritmo do pro gresso da química efeito, faltaram nesse setor as forças de interesse de poderosas industriais de alcance
industrial. Com motrizes organizações
niitada das disponibilidades de gêne ros alimentícios.
As últimas conquistas da biologia e da técnica agronômica abrem pe rante a humanidade horizontes su mamente promissores, o que justifica expectativas lisonjeiras quanto à fu tura oferta dos alimentos. Não são apenas previsões, necessariamente su jeitas às impressões intuitivas e nieramente subjetivas, como também vários elementos objetivos da situa ção atual que permitem antecipar, com relativa segurança, o aumento ponderável da produção de alimentos, O primeiro dêles relaciona-se com a ampliação das áreas cultivadas medante aproveitamento das reservas ainda não exploradas da África e da América Latina. Com a utilização de apenas 20% dessas reservas e 10% das áreas de “podsols” do Canadá a da União Soviética, poder-se-ia pôr a serviço da agricultura um novo e poderoso contingente de 1 bilhão e 000 milhões de acres.
Nada impede a exploração cada vez mais intensa das terras relativamonte pobres e ainda, por êsse moti vo, por causa da rentabilidade insu ficiente da sua respectiva cultura
, não incluídas no ciclo da lavoura. Basta relembrar que apenas 1% do território do Brasil dução de alimentos. serve para a promundial, que tanto contribuíram para incentivar novas invenções e novos processos químicos
industriais.
Seja como fôr, não pode ser des prezada a contribuição da ciência ou de várias disciplinas das ciências turais para a futura revolucionalizaçâo técnica da cultura dos solos, para aperfeiçoamento da pecuária e para aproveitamento dos recursos aquá ticos, com consequente expansão ili-
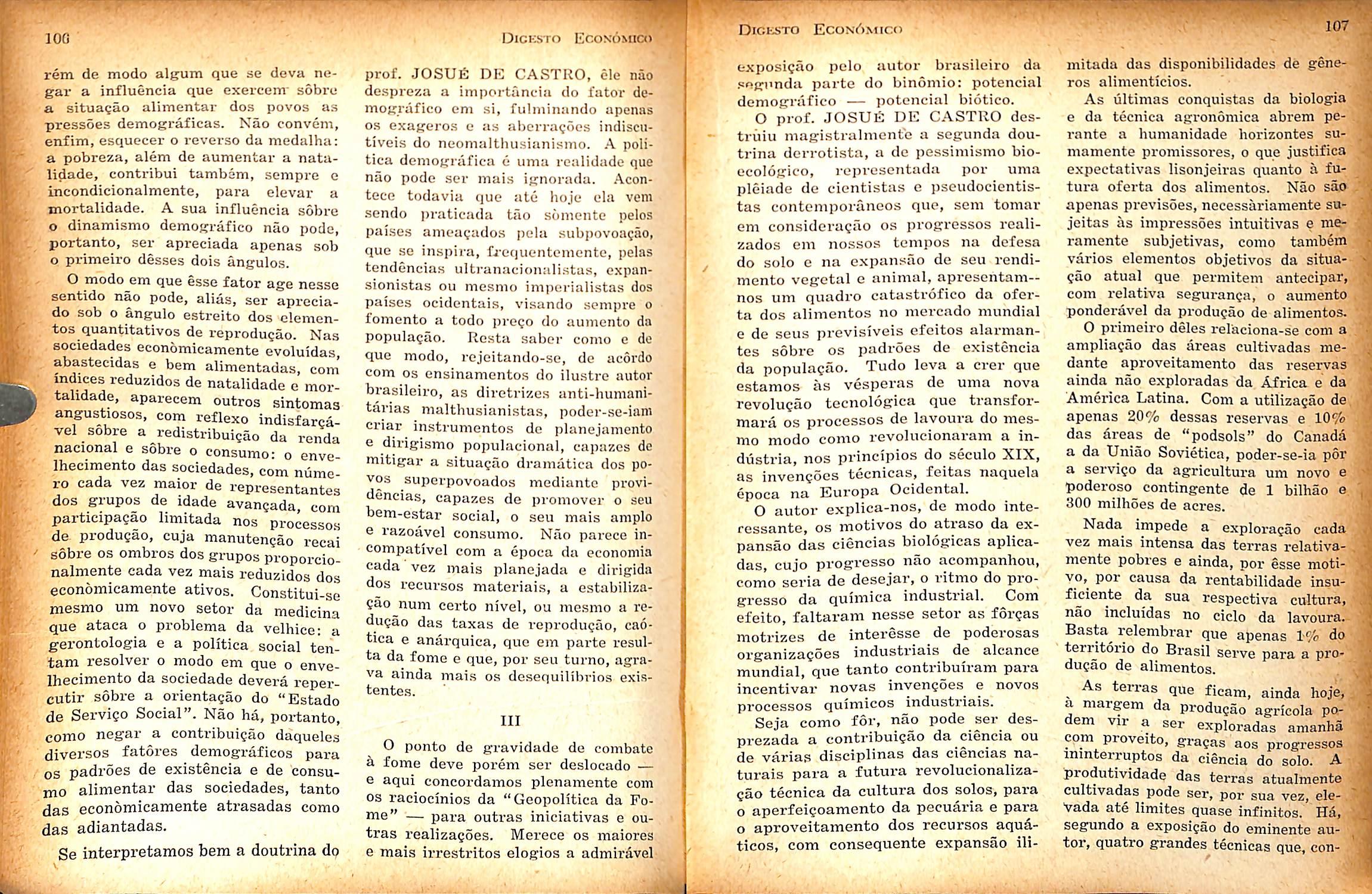
nao o
As terras ^ que ficam, ainda hoje, a margem da produção agrícola dem vir a ser exploradas amanhã com proveito, graças aos progressos ininterruptos da ciência do solo. A produtividade das terras atualmente cultivadas pode ser, por sua vez, ele vada até limites quase infinitos. Há, segundo a exposição do eminente tor, quatro grandes técnicas
poauque, con-
107 DiGt^TO Económic(í
con-
E juntamente, podem contribuir para o B maior rendimento da lavoura: 1) emB>’ prego de adubos químicos e naturais B, e fertilizantes do toda espécie; 2) uso P. de variedades de plantas capazes de ^ assegurar seu maior rendimento; 3) mais racional alimentação para o ga do e melhoria dos rebanhos; 4) : trôle mais eficaz das pragas e doen ças das plantas.
A produtividade imperfeita , agricultura resulta, antes de ^ nada, em têrmos econômicos, do em prego deficiente de bens de
da mai - capitai
s . ^ h. por essa razão que, o rendimento 'per capita do rural é, via de 5-10 vêzes inferior empregado em
regra, ao dos urbanos, . . processos industriais. i yra, assistimos ültimamente à indusf triahzação e ^ va da lavouramecanização progressi^ parte, da pecuá^ na, o que faz com que possamos conK tar nao sòmonte, como no passado com os braços físicos, como também em escala cada vez maior "braços de aço”, ’ com os máquinas agrícolas tratores, etc. .
A erosão dos solos é de dolorosa. e uma realidaNada justifica „ , „ . porém o "espantalho da erosão”, considera ; da como a maior praga da humanida de, de consequências imprevisíveis fatais, catastróficas. Mercê da ciênt; cia do solo, ciência relativament
sos de domesticação de novas plantas e a química inicia pela primeira vez. a titulo experimental, a produção dc alimentos sintéticos que poderão ser vir futuramento como complemento interessante dos alimentos naturais.
Os mares, fonte espetacular e ines gotável de alimentíiçào do maior va lor nutritivo, oferecem, por seu tur no, um poderoso subsídio para a ali mentação da população mundial.
Tudo dependerá porém, cm última análise, segundo a opinião de Lorde John Boyd Orr, da possibilidade de elevarmos com os recursos atuais da ciência e da técnica, a cerca do dobro, a produção de alimentos nos 25 próximos opinião do prof. Milton Eisenhower, a 110%.
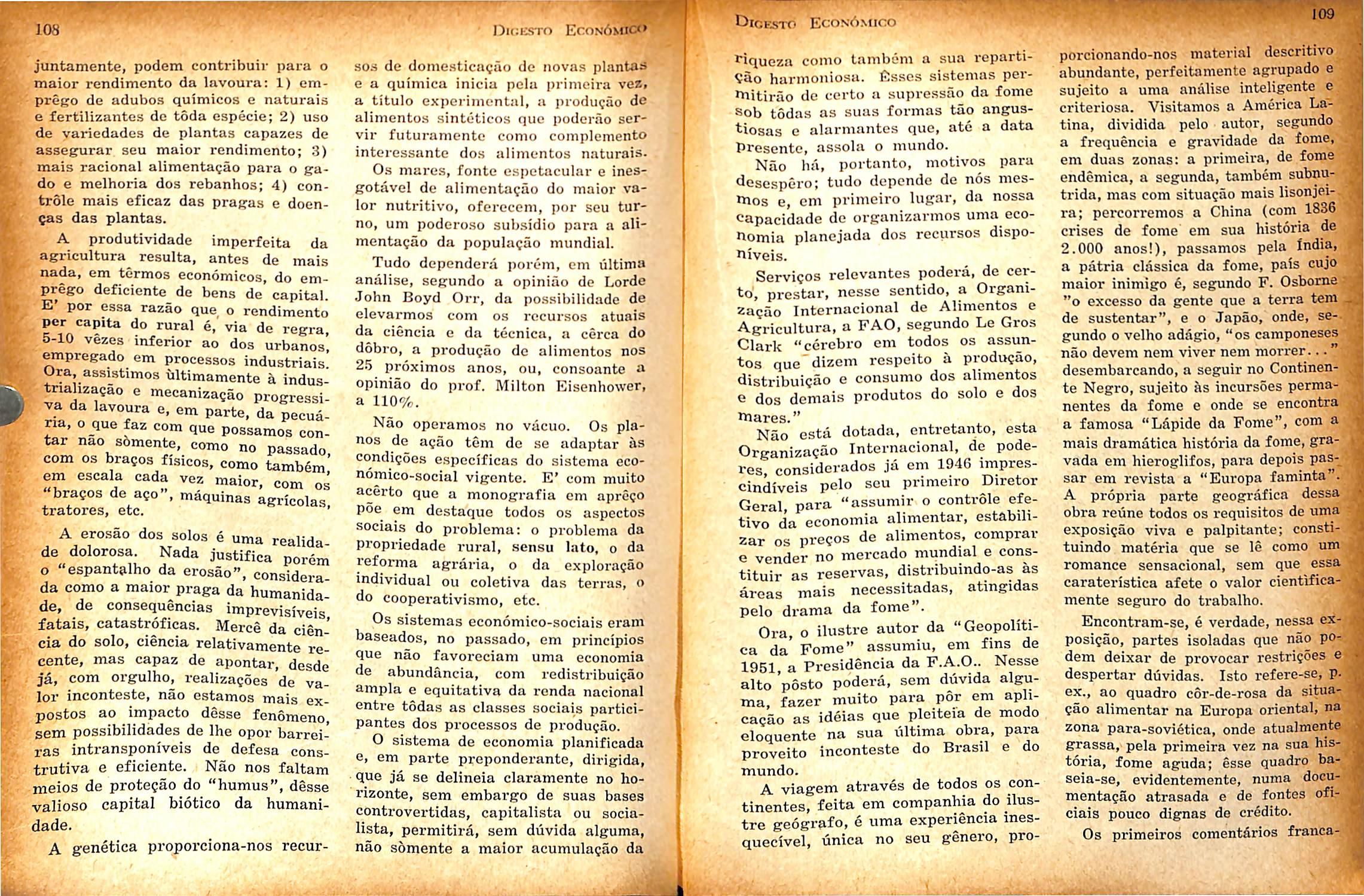
anos, ou, consoante n
Não operamos no vácuo. Os pla nos de ação têm de se adaptar às condições específicas do sistema económico-social vigente, acerto que a monografia cm apreço põe em destaque todos os aspectos sociais do problema: o problema da propriedade rural, scn.su lato, o da reforma agrária, o da exploração individual ou coletiva das terras, o do cooperativismo, etc.
E’ com muito
vaampla e equitativa da renda nacional entre tôda.s as classes sociais partici pantes dos processos de produção.
Os sistemas cconómieo-sociais eram baseados, no passado, em princípios que não favoreciam de abundância, coni uma economia redistribuição ’ cente, mas capaz de apontar, desde já, com orgulho, realizações de lor inconteste, não estamos mais ex postos ao impacto desse fenômeno, sem possibilidades de lhe opor barreiintransponíveis de defesa
cons-
*■/ ras ’● trutíva e eficiente. Não nos faltam L meios de proteção do “humus”, dêsse L valioso capital biótico da humanidade.
A genética proporciona-nos recurkLv,
O sistema de economia planificada e, em parte preponderante, dirigida, que já se delineia claramente no ho rizonte, sem embargo de suas bases controvertidas, capitalista ou socia lista, permitirá, sem dúvida alguma, não somente a maior acumulação da
OicKSTO EroNÓNtrcí»
í
f:
**iquGza como também a sua reparti ção harmonio.su. ftsscs sistemas per mitirão de certo a supressão da fome Sob tôdas as sutis formas tão angustiosas e alarmantes que, ató a data presente, assola o mundo.
Não há, <lesespéro; tudo depende de nós mes mos e, em primeiro lugar, da nossa capacidade de organizarmos uma ecoPomia planejada dos recursos dispoPiveis.
Serviços relevantes poderá, de cersentido, a Organi-
portanto, motivos para to, prestar, nesse zação Internacional do Alimentos e Agricultura, a FAO,segundo Le Gros Clark "cérebro em todos os assun tos que dizem respeito à produção, distribuição e consumo dos alimentos e dos demais produtos do solo e dos mares.”
Não está dotada, entretanto, esta Organização Internacional, de pode res considerados já cm 1946 impres cindíveis pelo seu primeiro Diretor assumir o controle efe- Geral, para tivo da economia alimentar, estabili zar os preços de alimentos, comprar e vender no mercado mundial e cons tituir as reservas, distribuindo-as às áreas mais necessitadas, atingidas pelo drama da fome”.
Geopolítifins de Nesse assumiu, em
Ora, o ilustre autor da ca da Fome 1951, a Presidência da F.A.O.. alto pôsto poderá, sem dúvida algu ma fazer muito para pôr em aplicaçao as idéias que pleiteia de modo eloquente na sua última obra, para proveito inconteste do Brasil e do mundo.
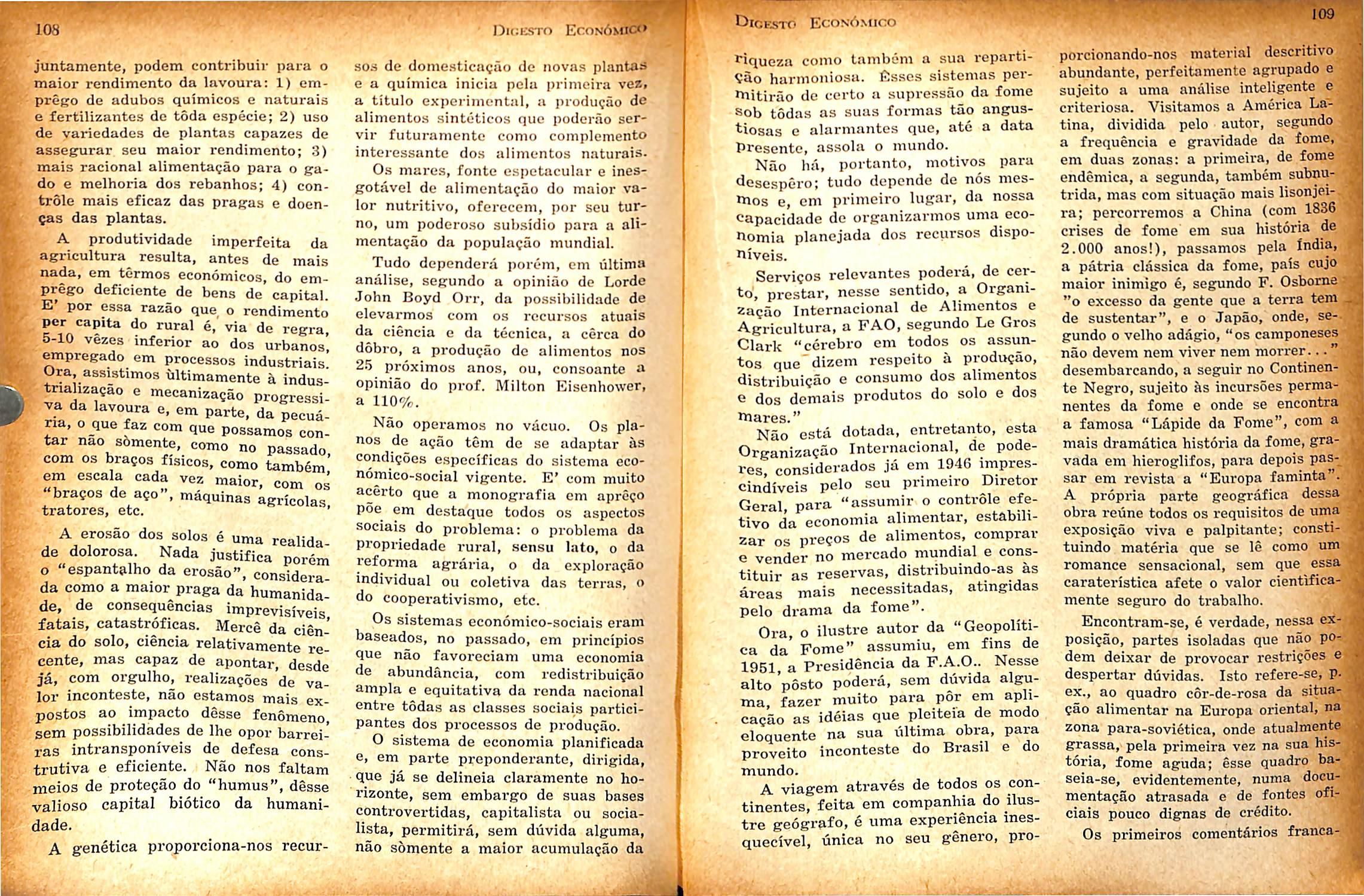
A viagem através de todos os con tinentes, feita em companhia do ilus tre geógrafo, é uma experiência ines quecível, única no seu gênero, pro-
porcionando-nos material descritivo abundante, perfeitamente agrupado e sujeito a uma análise inteligente e criteriosa. Visitamos a América La tina, dividida pelo autor, segundo a frequência e gravidade da fome, em duas zonas: a primeira, de fome endêmica, a segunda, também subnu trida, mas com situação mais lisonjei-. ra; percorremos a China (com 1836 crises de fome em sua história de 2.000 anos!), passamos pela índia, a pátria clássica da fome, país cujo maior inimigo é, segundo F. Osbome "o excesso da gente que a terra tem de sustentar”, e o Japão, onde, se gundo o velho adágio, “os camponeses não devem nem viver nem morrer...” desembarcando, a seguir no Continen te Negro, sujeito ãs incursões perma nentes da fome e onde se encontra a famosa “Lápide da Fome”, com a mais dramática história da fome, gra vada em hieróglifos, para depois pas sar em revista a “Europa faminta”. A própria parte geográfica dessa obra reúne todos os requisitos de uma exposição viva c palpitante; consti tuindo matéria que se lê como romance sensacional, sem que essa caraterística afete o valor cientificamente seguro do trabalho.
um
Encontram-se, é verdade, nessa ex posição, partes isoladas que não po dem deixar de provocar restrições e despertar dúvidas. Isto refere-se, pex., ao quadro côr-de-rosa da situa ção alimentar na Europa oriental, na zona para-soviética, onde atualmente grassa, pela primeira vez na sua his tória, fome aguda; êsse quadro ba seia-se, evidentemento, numa docu mentação atrasada e de fontes ofi ciais pouco dignas de crédito.
Os primeiros comentários franca-
109 C>if;KSTO Ec:on6mico
ta a U ra
mente entusiásticos com que foi aceiGeopolítica da Fome” nos Es tados Unidos e na Inglaterra deixam antever a repercussão tremenda que tcra esta obra na opinião pública mundial. Basta reproduzir a opinião da famosa autora Pearl Euck, deten tora do Prêmio Nobel de Literatu
que, concordando plonamonte com o autor brasileiro a respeito da importancia fundamental que cabe ^ blema ao prom por êle tão agistralmente i'a a sua monografia importante livro mundial desde a pu¬
exposto, considerr como blicado U o mais ua literatur varias décadas”.
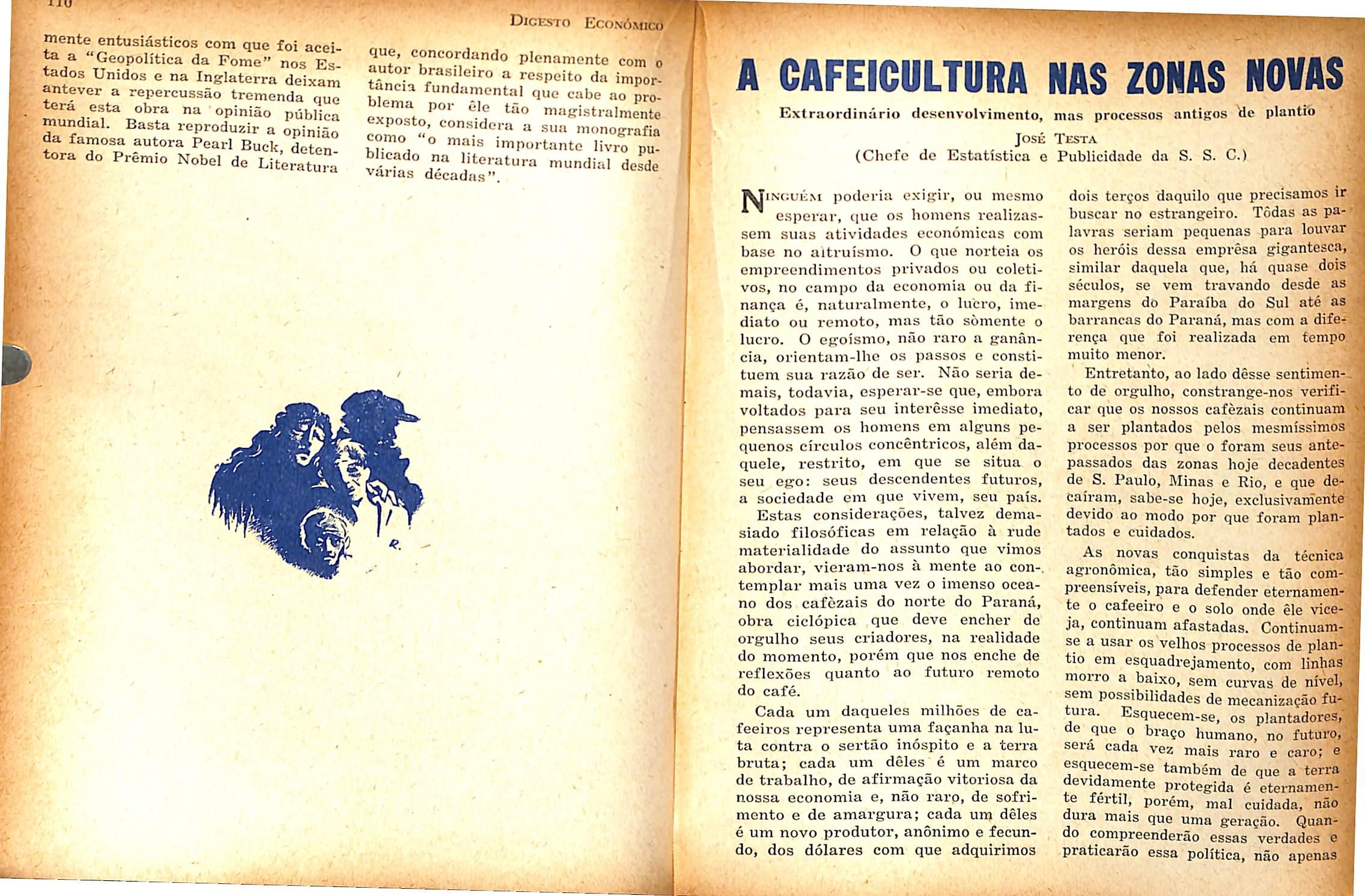
DicKsro
A CAFEICULTURA NAS ZONAS NOVAS
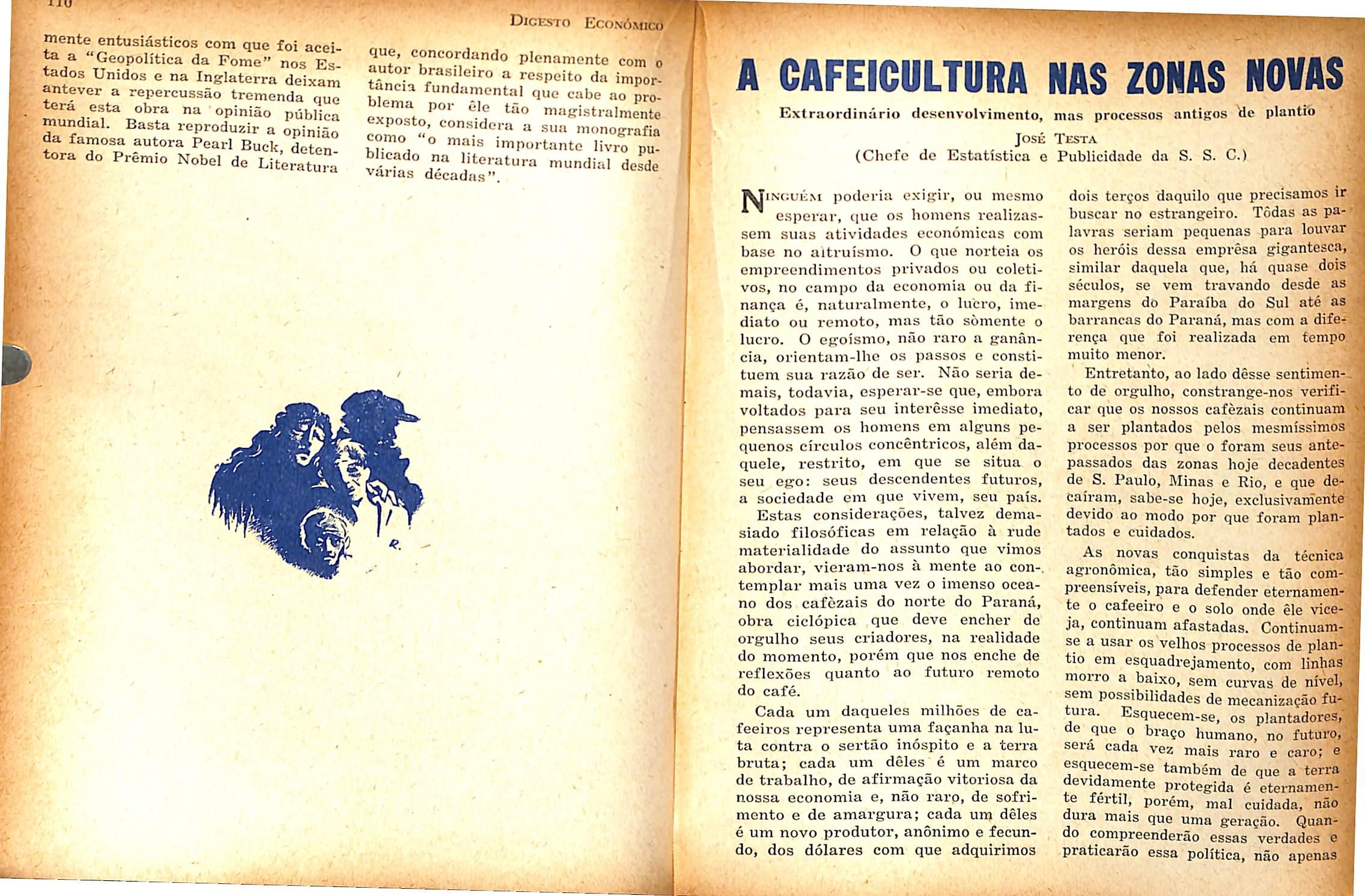
Extraordinário desenvolvimento, mas processos antigos de planUo José Testa (Chefe de Estatística e Publicidade da S. S. C.) ir
Ni.NcuÉ.M poclcriu exigir, ou mesmo esperar, que os homens realizas sem suas atividades econômicas com base no aitruismo. O que norteia os empreendimentos privados ou coleti vos, no campo da economia ou da fi nança é, naturalmonte, o lucro, ime diato ou remoto, mas tão somente o lucro. O egoísmo, não raro a ganân cia, orientam-lhe os passos e consti tuem sua razão de ser. Não seria de mais, todavia, esperar-se que, embora voltados para seu interesso imediato, pen.sassem os homens em alguns pequeno.s círculos concêntricos, além da quele, restrito, em que se situa o seu ego: seus descendentes futuros, a sociedade em que vivem, seu país. Estas considerações, talvez dema siado filosóficas em relação à rude materialidade do assunto que vimos abordar, vieram-nos à mente ao con-, templar mais uma vez o imenso ocea no dos cafèzais do norte do Paraná, obra ciclópica que deve encher de orgulho seus criadores, na realidade do momento, porém que nos enche de reflexões quanto ao futui*o remoto do café.
Cada um daqueles milhões de cafeeiros representa uma façanha na lu ta contra o sertão inóspito e a terra bruta; cada um dêles é um marco de trabalho, de afirmação vitoriosa da nossa economia e, não raro, de sofri mento e de amargura; cada um dêles é um novo produtor, anônimo e fecun do, dos dólares com que adquirimos
dois terços daquilo que precisamos buscar no estrangeiro. Todas as pa lavras seriam pequenas para louvar os heróis dessa empresa gigantesca, similar daquela que, há quase dois séculos, se vem travando desde as margens do Paraíba do Sul até as barrancas do Paraná, mas com a dife rença que foi realizada em tempo muito menor.
Entretanto, ao lado desse sentimen-. to de orgulho, constrange-nos verifi car que os nossos cafèzais continuam * a ser plantados pelos mesmíssimos processos por que o foram seus ante passados das zonas hoje decadentes de S. Paulo, Minas e Rio, e que de caíram, sabe-se hoje, exclusivaníente devido ao modo por que foram plan tados e cuidados.
As novas conquistas da técnica agronômica, tão simples e tão com preensíveis, para defender eternamen te o cafeeiro e o solo onde êle vice ja, continuam afastadas. Continuamse a usar os velhos processos de plan tio em esquadrejamento, com linhas morro a baixo, sem curvas de nível.
sem possibilidades de mecanização fu- j tura. Esquecem-se, os plantadores, i e que o braço humano, no futuro, sera cada vez mais raro e caro; e I esquecem-se também de que a terra devidamente protegida é eternamen te fértil, dura mais porém, mal cuidada, não que uma geração. Quan do compreenderão essas verdades e praticarão essa política, não apenas
alguns, mas todos os lavradores? Quando será feita, junto a cada um dêles' uma campanha de ensinament tos de índole prática acessível' e sim ples? Quando poderemos, enfim, es perar que os milhões de cafeeiros [ ainda a ser plantados o serão pela forma mais racional e eficiente ?
xas, que irão se depositar nas planí cies argentinas, carreadas pelo rio Paraná e seus afluentes.
e exa qualidade das f e ao cres cimento da produ ção, só êsse ponto merece crítica, aliás construtiva: êsse que se refere ao sistema plantio dos cafeei ros, o mesmo que se usava há dois séculos, como se a fosse ainda a de 175Õ. Embora julguemos
d e agr n.
a cultura que, no mas
i <● onomia atual H I a livre iniciativa, com a minima interferência' do governo, e ainda o melhor sistema econômico, não podemos deixar de preconizar a assistência da administraçao publica, e mui especialmentc do governo paranaense, no sentido de orientar e sistematizar 'W‘ cafeeira no norte do Estado, ritmo em que vai, dará ao Paraná, i*** dentro de poucos anos, a supremacia 'V'. cafeeira no Brasil e no mundo, dar-lhe-á, também, dentro de mais f seis ou oito lustros, a destruição to5 tal de suas reservas florestais e a v’ erosão de suas magníficas terras ro-
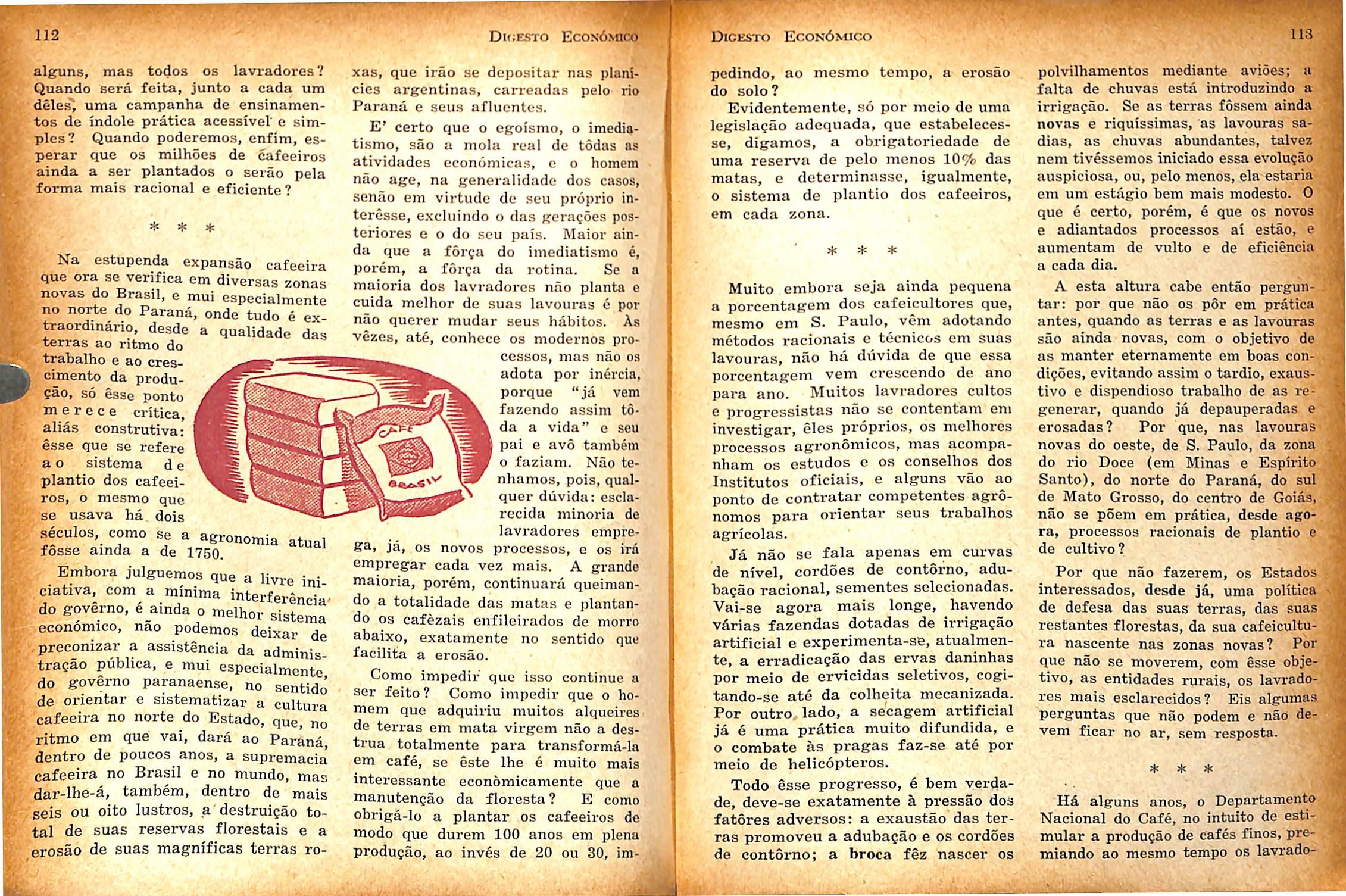
E’ certo que o egoísmo, o imediatismo, são a mola real de tôdas as atividades econômicas, c o homem não age, na generalidade dos casos, senão em virtude de seu próprio in teresse, excluindo o das geragões pos teriores e o do seu país. Maior ain da que a fôi'ça do imediatismo é, porém, a fôrga da rotina, maioria dos lavradores não planta e cuida melhor do suas lavouras é por não querer mudar seus hábitos. Às vezes, até, conhece os modernos pro cessos, mas não os adota por inércia, porque fazendo assim to da a vida” e seu pai e avô também o faziam. Não te nhamos, pois, qual quer dúvida: escla recida minoria de lavradores empre ga» já, os novos processos, e os irá empregar cada vez mais. A grande maioria, porém, continuará queiman do a totalidade das matas e plantan do os cafèzais enfileirados de morro abaixo, exatamente no sentido que facilita
Se n “já vem a erosão.
Como impedir que isso continue a 3cr feito? Como impedir que o ho mem quG adquiriu muitos alqueires de terras cm mata virgem não a des trua totalmente para transformá-la em café, se êste lhe é muito interessante economicamente que a E como
mais manutenção da floresta ? obrigá-lo a plantar os cafeeiros de modo que durem 100 anos em plena produção, ao invés de 20 ou 30, im-
112 Dkjesto Econômico ●
5
í
* * ♦
Na estupenda expansão cafeeira j; que ora se verifica em diversas zonas novas do Brasil, e mui especialmente no norte do Paraná, onde tudo é traordinário, desde ; terras ao ritmo do ■f trabalho
pedindo, ao mesmo tempo, a erosão do solo ?
Evidentemente, só por meio de uma legislação adequada, que estabeleces se, digamos, a obrigatoriedade de uma reserva de pelo monos 10% das matas, e determinasse, igualmente, o sistema de plantio dos cafeeiros, em cada zona.
polvilhamentos mediante aviões; a falta de chuvas está introduzindo a irrigação. Se as terras fossem ainda novas e riquíssimas, as lavouras sa dias, as chuvas abundantes, talvez nem tivéssemos iniciado essa evolução auspiciosa, ou, pelo menos,ela estaria em um estágio bem mais modesto. O que é certo, porém, é que os novos c adiantados processos aí estão, e aumentam de vulto e de eficiência a cada dia.
Muito embora seja ainda pequena porcentagem dos cafeicultores que, S. Paulo, vêm adotando a mesmo em métodos racionais e técnicos em suas lavouras, não há dúvida de que essa crescendo do ano porcentagem vem Muitos lavradores cultos para ano. e progressistas não se contentam eni investigar, êles próprios, os melhores processos agronomicos, mas acompa nham os estudos e os conselhos dos Institutos oficiais, e alguns vão ao ponto de contratar competentes agrôorientar seus trabalhos nomos para agrícolas.
A esta altura cabe então pergun tar: por que não os pôr em prática antes, quando as terras e as lavouras são ainda novas, com o objetivo de as manter eternamente em boas con dições, evitando assim o tardio, exaus tivo e dispendioso trabalho de as re generar, quando já depauperadas e erosadas? novas do oeste, de S. Paulo, da zona do rio Doce (em Minas e Espírito Santo), do norte do Paraná, do sul de Mato Grosso, do centro de Goiás, não se põem em prática, desde ago ra, processos racionais de plantio e de cultivo?
Por que, nas lavouras
Já não se fala apenas em curvas de nível, cordões de contorno, adubação racional, sementes selecionadas. Vai-se agora mais longe, havendo várias fazendas dotadas de irrigação artificial e experimenta-se, atualmen te, a erradicação das ervas daninhas por meio de ervicidas seletivos, cogitando-se até da colheita mecanizada. Por outro lado, a secagem artificial já é uma prática muito difundida, e o combate às pragas faz-se até por meio de helicópteros. * * *
Todo êsse progresso, é bem verda de, deve-se exatamente à pressão dos fatores adversos: a exaustão das ter ras promoveu a adubação e os cordões de contorno; a broca fêz nascer os
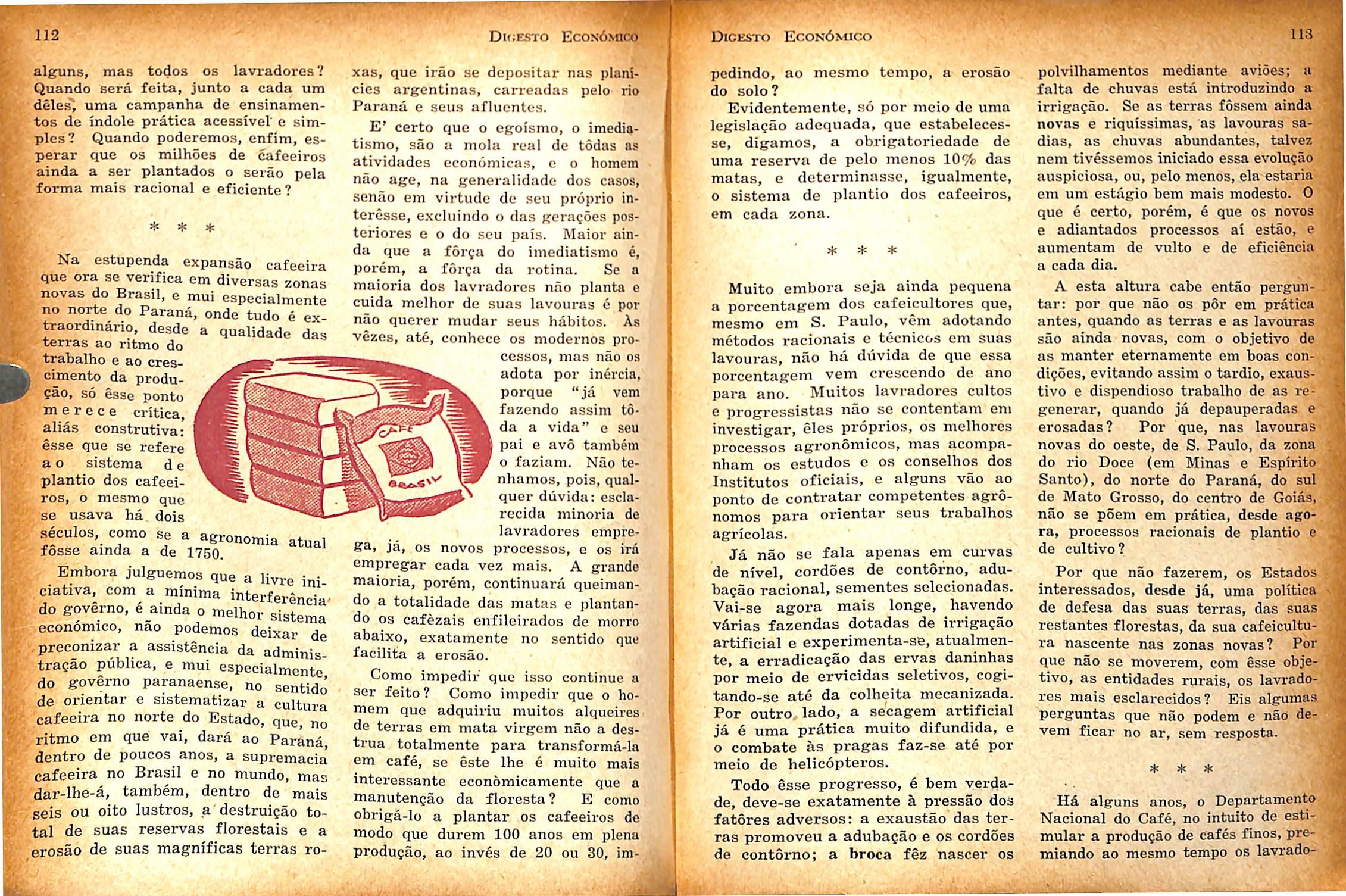
Por que não fazerem, os Estados interessados, desde já, uma política de defesa das suas terras, das suas restantes florestas, da sua cafeicultura nascente nas zonas novas? Por que não se moverem, com êsse obje tivo, as entidades rurais, os lavrado res mais esclarecidos? Eis algumas perguntas que não podem e não de vem ficar no ar, sem resposta.
Há alguns anos, o Departamento Nacional do Café, no intuito de esti mular a produção de cafés finos, pre miando ao mesmo tempo os lavi^ado-
Dicesto Econômico
♦ * ♦
I
cuidadosos, resolveu faci- res mais litar de modo especial a descida daL queles cafés para os portos, í tituto de Café, de S. Paulo, estabelepor sua vez, um auxílio aos
em prática nesse terreno, como tam■bém cm outros, relativos à cafeiculÊssos prêmios poderíam ser tura.
O Insí cera, vários, tais como maiores facilidades na descida dos cafés, no financiamen* to, na obtenção do inseticidas e adu bos, de semente.s, etc. também, haver prêmios de ordem mo ral, tais como condecorações e cita ções, direito a determinados postos consultivos e resolutivos das associaNem SC dipa que
lavradores que desejassem instalar despolpadores, financiando-os. obstante êsses estímulos, continuou Não I insignificante nossa produção de ca fés de primeira categoria, tendo sido irrisória, nos últimos tempos, centagem de cafés despolpados no to tal da produção.
os as e O ágio conseguido peao serem vendidos, nao compensava os trabalhos com sua obtenção e, principalmente, o tempo gasto, de vez que era preciso vender logo o cafe para fazer dinheiro. Ainda ha pouco ouvimos de diversos cafeicultores, no norte do Paraná, que o preparo de cafés finos não compensava. Um deles, apenas, via nisso uma pequena vantagem, não no preem maior facilidade mas nas
vendas. ÇO,
Ora, seria necessário estudar tagens e estímulos vana serem postos
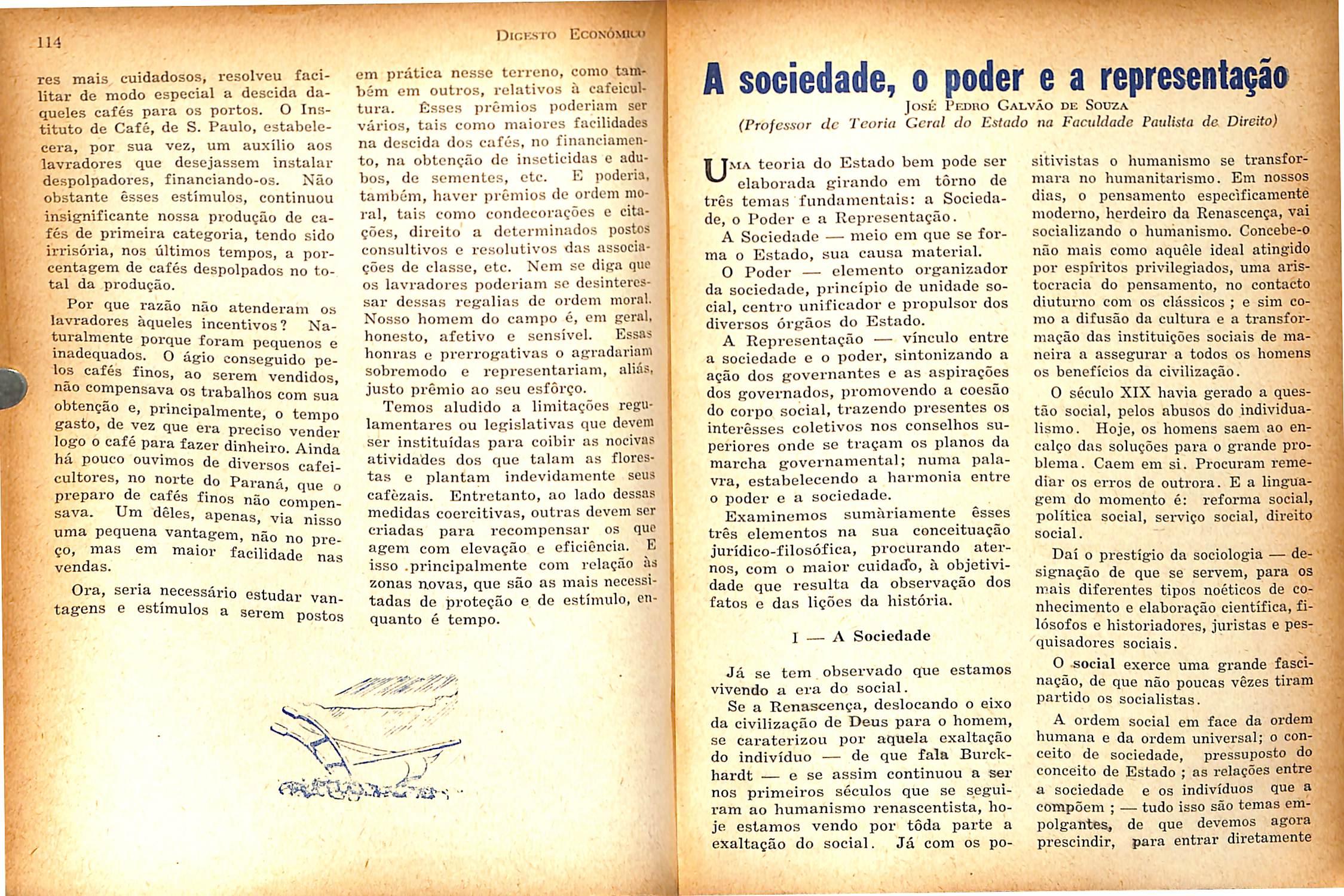
K podería. ções de classe, etc.
a poros lavradores poderiam se desinteres sar dessas regalias do ordem moral. Nosso homem do campo é, cm geral, honesto, afetivo e sensível, honras e prerrogativas o agradariam sobremodo c representariam, aliás, justo prêmio ao seu esforço. Temos aludido a limitações regu lamentares ou legislativas que devem ser instituídas para coibir as nocivas atividades dos que talam as flores tas e plantam indovidamonte seus cafèzais. Entretanto, ao lado dessas medidas coercitivas, outras devem ser criadas para recompensar agem com elevação e eficiência, isso .principalmente com relação às zonas novas, que são as mais necessi tadas de proteção e do estímulo, en quanto é tempo.
i: / L
Essas os que E
'\ Dir.Ksro Iòconó^oui 114
f.
Por que razão não atenderam lavradores àqueles incentivos? j. turalmentc porque foram ( inadequados. ’ I* A I' ●i. í
/ N pequeno ^ los cafés finos. I
A sociedade, o poder e a representação
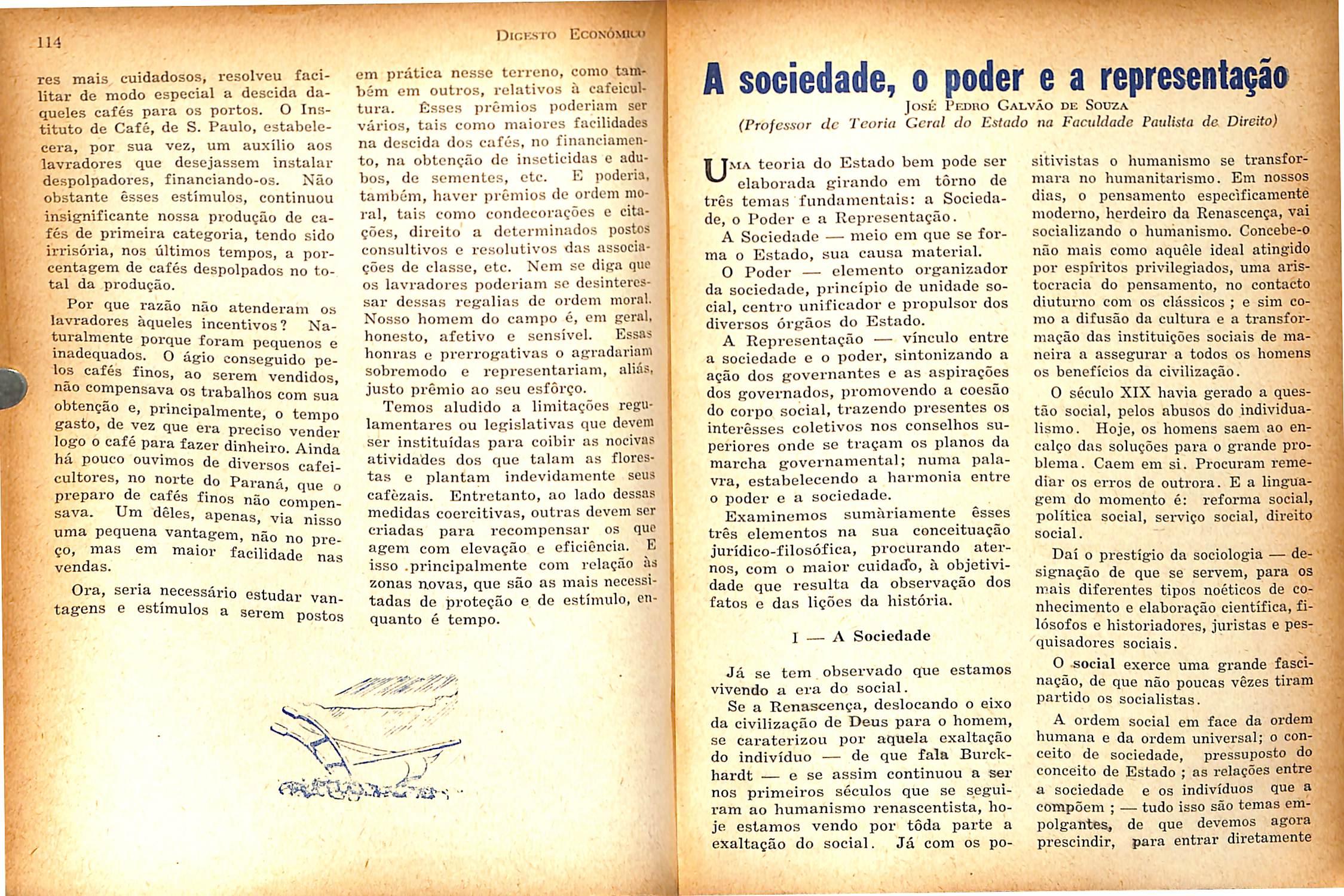 JosK Pfoíuo Galvão de Souza (Professor dc Teoria Geral do Estado na Faculdade
JosK Pfoíuo Galvão de Souza (Professor dc Teoria Geral do Estado na Faculdade
teoria do Estado bem pode ser elaborada girando cm tôrno de três temas fundamentais: a Socieda-
UMA de, o Poder e a Representação.
A Sociedade — meio cm que se for ma o Estado, sua causa material.
O Poder — elemento organizador da sociedade, princípio dc unidade so cial, centro imificador e propulsor dos diversos órgãos do Estado.
A Representação — vínculo entre a sociedade e o poder, sintonizando a ação dos governantes e as aspirações dos governados, promovendo a coesão do corpo social, trazendo presentes os interesses coletivos nos conselhos su periores onde se traçam os planos da marcha governamental; numa palaestabelecendo a harmonia entre vra, o poder c a sociedade.
Examinemos sumàriamento êsses sua conceituação três elementos na jurídico-filosófica, procurando aternos, com o maior cuidaiío, à objetivi dade que resulta da obsei-vação dos fatos e das lições da história.
1 — A Sociedade
Já se tem observado que estamos vivendo a era do social.
Se a Renascença, deslocando o eixo da civilização de Deus para o homem, se caraterizou poi* aquela exaltação do indivíduo — de que fala Burclchardt — e se assim continuou s ser nos primeiros séculos que se segui ram ao humanismo renascentista, ho je estamos vendo por tôda parte a exaltação do social. Já com os po-
Paulista de Direito) sitivistas o humanismo se transfor mara no humanitarismo. Em nossos dias, o pensamento especificamente moderno, herdeiro da Renascença, vai socializando o humanismo. Concebe-O nâo mais como aquele ideal atingido por espíritos privilegiados, uma aris tocracia do pensamento, no contacto diuturno com os clássicos ; e sim co mo a difusão da cultura e a transfor mação das instituições sociais de ma neira a assegurar a todos os homens os benefícios da civilização.
O século XIX havia gerado a ques tão social, pelos abusos do individua lismo. Hoje, os homens saem ao en calço das soluções para o grande pro blema. Caem em si. Procui*am reme diar os erros de outrora. E a lingua gem do momento é: reforma social, política social, sei*viço social, direito social.
Daí o prestígio da sociologia — de signação de que se servem, para os mais diferentes tipos noéticos de co nhecimento e elaboração científica, fi lósofos e historiadores, juristas e pes quisadores sociais.
O social exerce uma grande fasci nação, de que não poucas vezes tiram partido os socialistas.
A ordem social em face da ordem humana e da ordem universal; o con ceito de sociedade, pressuposto do conceito de Estado ; as relações entre a sociedade e os indivíduos compõem ; — tudo isso são temas em polgantes* de que devemos agora prescindir, para entrar diretamente
que a
nações, não tem » a a Igreja, na comunhão dos
' no assunto que nos diz respeito: a so* ciedade política. ●í- Quantas e quão diferentes formas [7 de sociabilidade se nos apresentam no k‘ desenrolar histórico da convivência k humana ! Desde a sociedade domésti¬ ca, a primeira, a mais natural, a célufi la social como tem sido justamente I definida, até à sociedade das cuja estruturação jurídica ^ correspondido, é verdade, aos pro gressos técnicos da humanidade, permitirem estreitar cada vez mais os ● ymculos entre os povos. E transportando-nos para' um plano superior, a > sociedade supranacional, unindo as almas santos c projetando Igreja militante, Igreja triunfante.
Admirável e empol^fante — escreve Lachance — “êsse espetáculo do ho mem (jue, a despeito de seu estado de privação de to<lo sistema nativo de comportamento, acha o seprêdo de ul trapassai- infinitamente os outros se res vivos e de dar a luz a uma gran de variedade de formas, tão atraentes umas (juanto outras, de cultura e de civilização, ftle não herda da natu reza um plano de conduta fixo, mas em compensação recebe a faculdade de criar um para si, segundo suas dis posições c suas preferências.” (1)
Aí estão dades de for
I-se na eternidade: Igreja padecente. as mais variadas modalimaçao social, a se multipercurso da história: cidades e impérios, tribos grêmios profissionai classe, sociedades
« . . h k ípresas mdustr.ais, instituições cientificas e acadêmicas, escolas dades, sociedades esportivos.
E Santo Tomás do Aquino a nos lembrar ([uo, entro tôdas as demais, a criatura dotuda de razão está sub metida à Providência Divina do um modo excelente, pelo fato do exercer em relação a si mesma, e ãs outras, uma espécie de providência. (2).
plicarem no e aldeias, associações de
is e e universirecreativas e clubes proliferação d
■M ■ r»’ jff. e ciedades, destaca-se desde logo uma ■< que abrange as demais, que por es í tas se constitui, que lhes dá a estabi lidade da ordem judídica. Ê a socie dade política. Polis, a chamavam os gregos: a “cidade”, no sentido roma no e latino da civitas, não da urbs. A sociedade que na antiga Grécia e nos primeiros tempos de Roma tinha por limites os limites da cidade — daí o dizer-se também sociedade civil, eivitas ; que na Idade Média se forpela reunião dos senhorios; que nossos dias geralmente coincide
Criado por Deus para viver em so ciedade, o homem, no organizar as formas da sua convivência, manifesta a liberdade que <iecorre da sua natu reza racional,
Em meio a tal
soSf ; I r de i ■ mou em ●/ com a naçao.
Assim se distingue pei-feitamente a vida social, própria do homem, da vida gregária levada por certos nni-
niais.
As formigas, as abelhas, os castores vivem gregàriamente segun do o determinismo estabelecido pela lei de Deus para essas criaturas irra cionais. Daí a fixidez de sua manei ra de coexistir, daí a ausência de pro gresso e de história. O naturalista Fabre, no século XIX de nossa era, estudando os animais gregários, vi nha renovar observações feitas por Aristóteles no século IV antes de Cristo. Também entre os homens cos tumamos dizer que a história se re pete.’. . mas de modo muito outro: com tantas particularidades diferenciadoras, com modificações radicais,
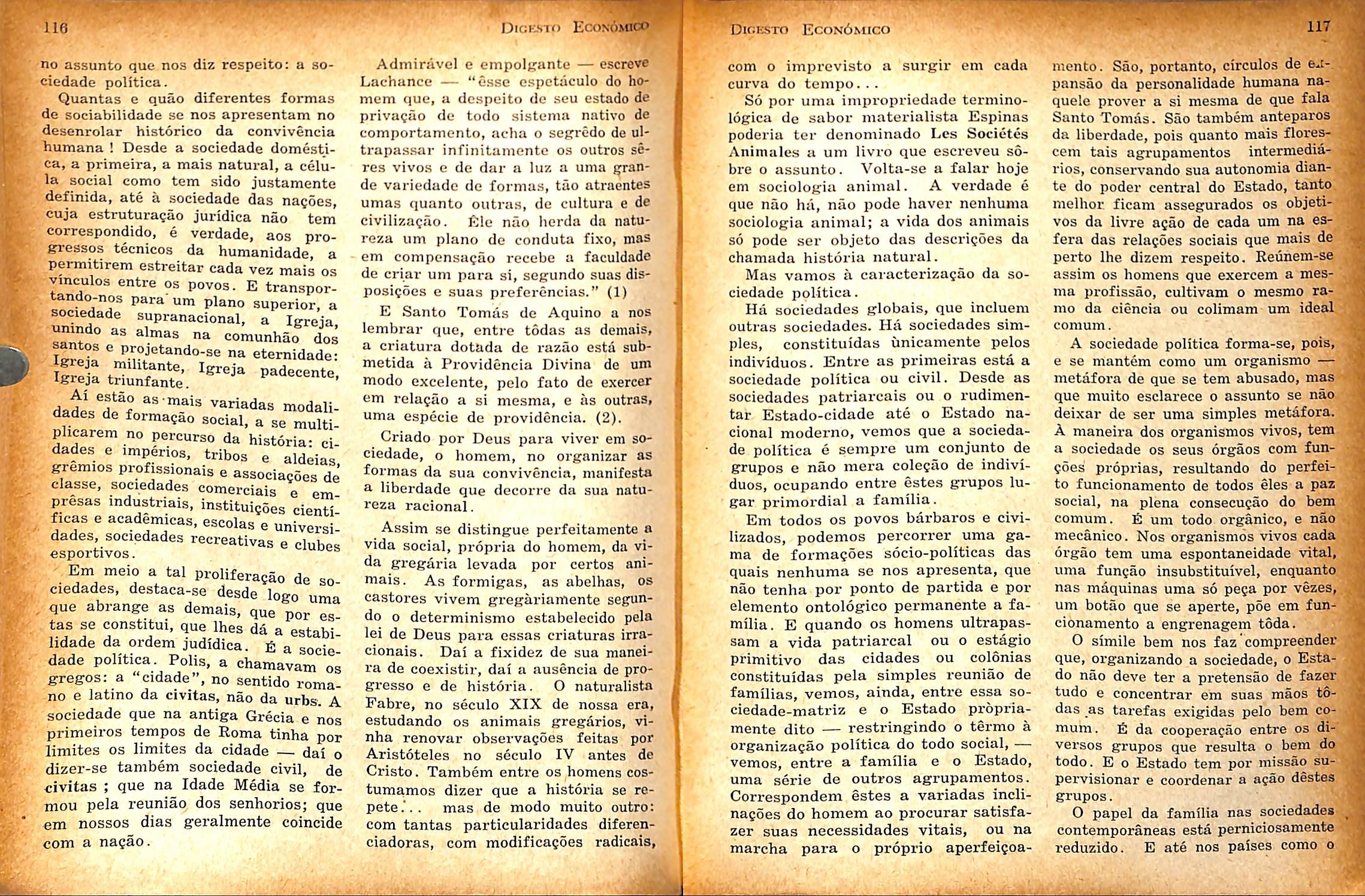
Dit;h-sio EconóxíK^' 116 \r
com o imprevisto a surgir em cada curva do tempo...
Só por uma improi>riedade termino lógica de sabor materialista Espinas poderia ter denominado Les Sociétés Animale.s a um livro que escreveu so bre o assunto. Volta-se a falar hoje em sociologia animal. A verdade é que não há, não pode haver nenhuma sociologia animal; a vida dos animais só pode ser objeto das descrições da chamada história natural.
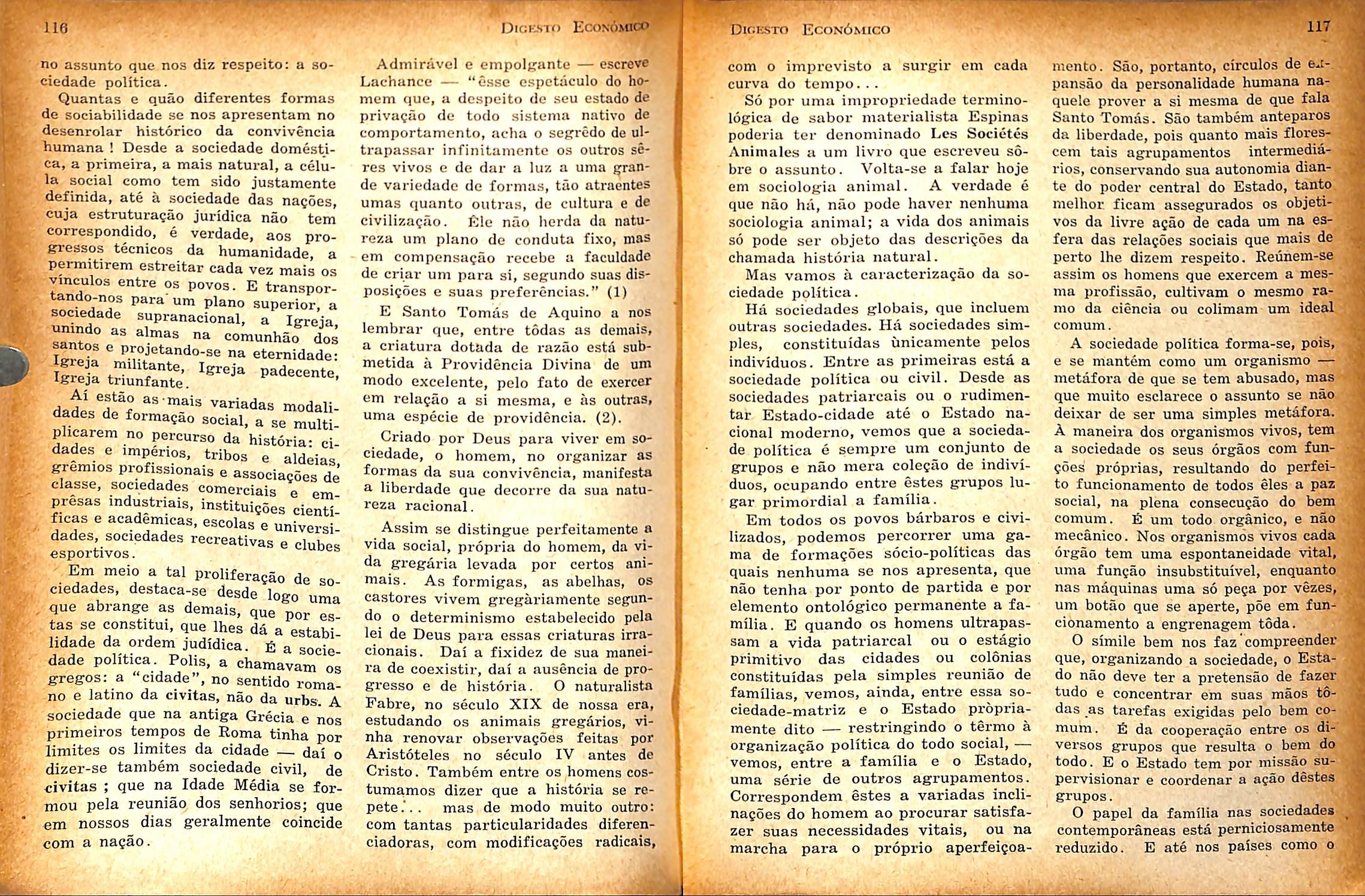
Mas vamos à caracterização da so ciedade política.
Ilá sociedades globais, que incluem outras sociedades. Há sociedades sim ples, constituídas unicamente pelos indivíduos. Entro as primeiras está a sociedade política ou civil. Desde as sociedades patriarcais ou o rudimen tar Estado-cidade até o Estado na cional moderno, vemos que a socieda de política ó sempre um conjunto de grupos e não mera coleção de indiví duos, ocupando entre êstes grupos lu gar primordial a família.
Em todos os povos bárbaros e civi lizados, podemos percorrer uma ga ma de formações sócio-políticas das quais nenhuma se nos apresenta, que não tenha por ponto de partida e por elemento ontológico permanente a fa mília. E quando os homens ultrapas sam a vida patriarcal ou o estágio primitivo das cidades ou colônias constituídas pela simples reunião de famílias, vemos, ainda, entre essa sociedade-matriz e o Estado propria mente dito — resti-ingindo o têrmo à organização política do todo social, vemos, entre a família e o Estado, uma série de outros agrupamentos. Cori'espondem êstes a variadas incli nações do homem ao procurar satisfa zer suas necessidades vitais, ou na marcha para o próprio aperfeiçoa-
mento. São, portanto, círculos de e*c- j pansão da personalidade humana quele prover a si mesma de que fala Santo Tomás. São também anteparos ^ da liberdade, pois quanto mais flores- ' cem tais agrupamentos intermedia- „ rios, conservando sua autonomia dian- > te do poder central do Estado, tanto melhor ficam assegurados os objeti vos da livre ação de cada um na fera das relações sociais que mais de perto lhe dizem respeito. Reúnem-se assim os homens que exercem a mes ma profissão, cultivam o mesmo ra mo da ciência ou colimam um ideal _^ comum.
na) es-
t a ■ _1 i
to funcionamento de todos êles a paz _j social, na plena consecução do bem _t comum. É um todo orgânico, e não ^ mecânico. Nos organismos vivos cada órgão tem uma espontaneidade vital, _v uma função insubstituível, enquanto nas máquinas uma só peça por vêzes, um botão que se aperte, põe em fun cionamento a engrenagem tôda.
O símile bem nos faz compreender _\ que, organizando a sociedade, o Estado não deve ter a pretensão de fazer _^ tudo e concentrar em suas mãos tô- _^ das as tarefas exigidas pelo bem co mum . Ê da cooperação entre os di versos grupos que resulta o bem do todo. E o Estado tem por missão su pervisionar e coordenar a ação dêstes grupos.
O papel da família nas sociedades ^ contemporâneas está perniciosamente reduzido. E até nos países como o
U7 Dkírsto Econômico
A sociedade política forma-se, pois, e se mantém como um organismo metáfora de que se tem abusado, mas que muito esclarece o assunto se não deixar de ser uma simples metáfora. À maneira dos organismos vivos, tem a sociedade os seus órgãos com funções próprias, resultando do perfei- _* 1 1 I 1
r . rando-se, de um lado, o Estado, de outro os indivíduos, sem atenção às famílias o aos demais prrupos.
nosso, onde, mercê de Deus, ela ainda 7 mantém a sua formação tradicional cristã, tenta-se de todas as maneiras K abrir uma brecha no edifício social
pela violação da intangibilidade sa grada do lar, que os legisladores ain da não conseguiram perpetrar juridi camente, apesar de algumas insidiosas artimanhas, mas que os hábitos sociais se váo encarregando de reali zar na prática, sobretudo nas grandes cidades. Se na sua constituição ínti ; - crise a família, ^ , projeção social, particularmente econômica e política I esteja também debilitada. Vivemos
ma está assim em admii'a que nao na sua ^ epoca do social, homens de hoje, sobretudo ainda estão os j mas os uristas, 1 . . Pi'csos às categorias fun¬ damentais do individualismo. Donde o desconhecimento das funções sociais da famiha. Donde, também a oblitelaçao do papel relevantíssimo que numa sociedade bem organizada, deve caber aos grupos intermediários
Contra uma tal rominiscência da concepção individualista da sociedade l)olítica, a qual conduz lòpicamente ao socialismo, o Santo Padre Pio XII veio lembrar, numa do suas niemorúve»K mensaífens de NatíU, a distinção tao oportuna e de maírno alcance en tro povo o massa.
“O Estado não contém em si nem reúne mocânicamente em determina do território ujn íiírlomorado amorfo de indivíduos. K e deve ser, na rea lidade, dora de um verdadeiro povo.
Perdeu-se o sentido do direito porativo, que os professor deaux Bròthe de la Gr de-Lacoste, em obra ram conceituar
cor es de Boressaye e Labori-ecente, soubeprecisâo (3) com
'd . corporativismo, experiência na
» Quando se fala muitos pensam logo fascista, esquecidos de pou a idéia em
em le que esta deturapi-êço, fazendo da corporação uma peça centralizador da administração e não a
S , ● 1 j T oi*í?anismo da sociedade, elemento de descent lização, e de liberdade.
a iiniao organica e orgamzade de espera o impulso de
“Povo e multidão umorfa ou, como se costuma dizer, “massa” são dois conceitos diversos. O povo vive o se move com vida i)rói)ria; a massa é por si mesma inerte e não pode rece ber movimento senão de fora. 0 po vo vive da plenitude da vida dos ho mens <jue o compõem, cada um dos quais — om sua própria posição o à sua maneira — é pessoa consciente suas próprias responsabilidades e suas convicções pessoais ; a massa, pelo contrário fora, joguete fácil nas mãos de qual<iuer que explora seus instintos ou impressões, disposta a seguir cada vez um, hoje esta bandeira, amanhã aquela.” (4).
O povo é, pois, a sociedade organi camente considerada, na sua consti tuição natural c histórica, não obs tante a variedade de formas superestruturais que possa revestir quanto à organização do Estado.
ra Desse modo, a configuração jurídi ca da sociedade é delineada conside-
A massa é a sociedade política na constituição jurídica das democracias individualistas, do socialismo, dos Es tados totalitários.
Sejam quais forem as formas do
raem X i. ’ certos autores a autonomia da vontade individual continua a imperar soberanamente. ' .>á k
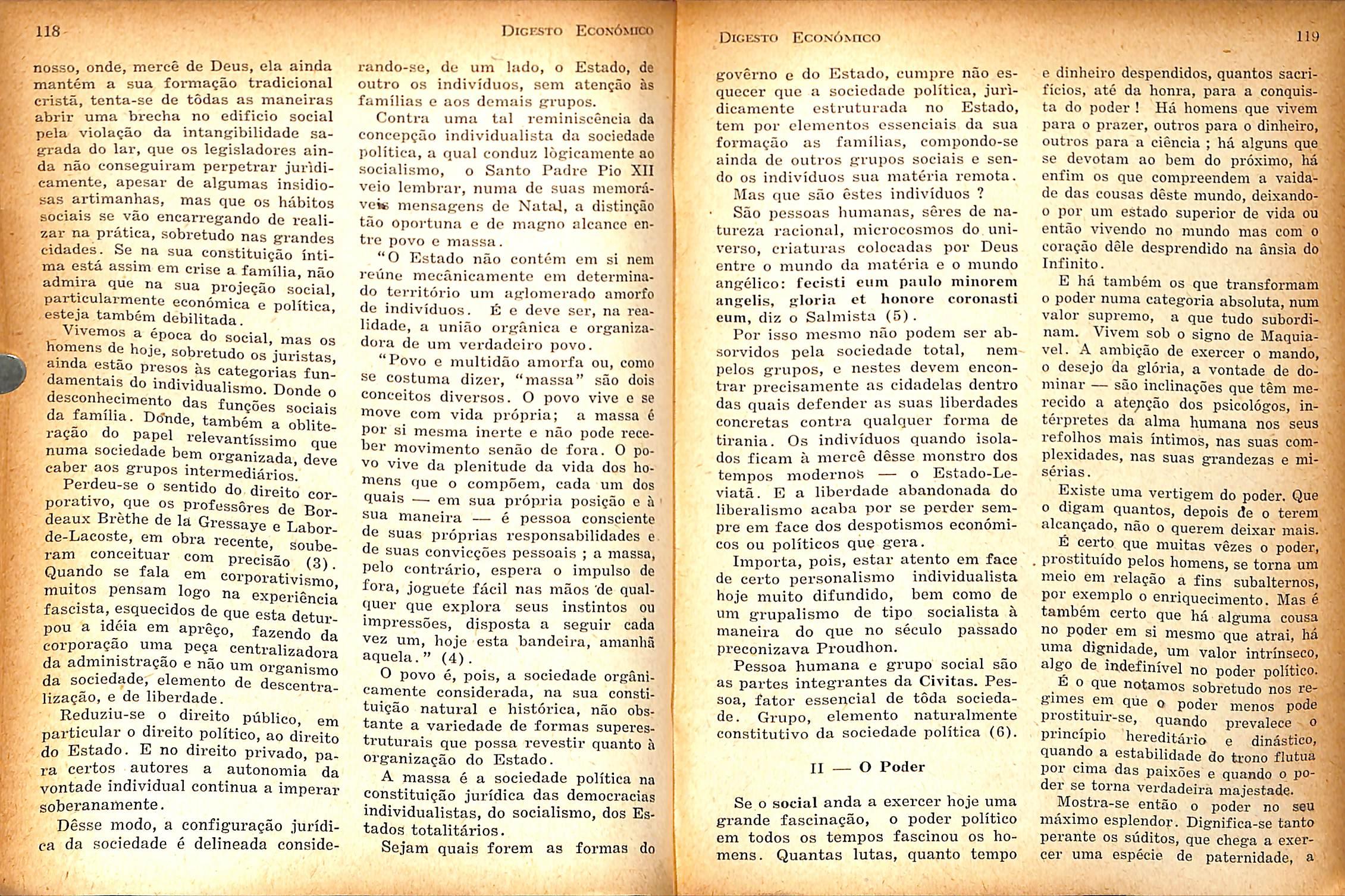
T- y DrcKSTo EcoNÓMia> 118<
A
Reduziu-se o direito público particular o direito político, ao direito do Estado. E no direito privado
governo e do Estado, cumpre não es quecer que a sociedade política, juri dicamente estruturada no Estado, tem por clemento.s essenciais da sua formação as famílias, compondo-se ainda de outros grupos sociais e sen do os indivíduos sua matéria remota.
iMas (jue são estes indivíduos ?
São jiessoas humanas, sêios de na tureza racional, microcosmos do uni verso, criaturas colocadas por Deus entro o mundo da matéria e o mundo pauto minorem ot honore coronasti angélico: fcci.sti cum angclis, gloria cum, diz o Sahnista (5).
Por isso mesmo não podem ser ab sorvidos pela sociedade total, pelos grupos, e nestes devem oncontiar precisamente as cidadelas dentro das quais defender as suas liberdades concretas contra qualquer forma de tirania. Os indivíduos quando isolado.s ficam à mercê dêsse monstro dos o Estado-Le-
nem tempos moderno.s
e dinheiro despendidos, quantos sacri fícios, até da honra, para a conquis ta do poder ! Há homens que vivem para o prazer, outros para o dinheiro, outros para a ciência ; há alguns que se devotam ao bem do próximo, há enfim os que compreendem a vaida de das cousas dêste mundo, deixando0 por um estado superior de vida ou então vivendo no mundo mas com o coração dêle desprendido na ânsia do Infinito.
E há também os que ti-ansformam o poder numa categoria absoluta, valor supremo, . Vivem sob o signo de Maquiavel. A ambição de exercer o mando, o desejo da glória, a vontade de do— são inclinações que têm recido a atenção dos psicológos, in térpretes da alma humana
num a que tudo subordi¬ nam minar me¬ nos seus
refolhos mais íntimos, nas suas com plexidades, nas suas grandezas e niiviatã.
E a liberdade abandonada do serias.
liberalismo acaba por se pei-der sem pre em face dos despotismos econômi cos ou políticos que gera.
Importa, pois, estar atento em face do certo personalismo individualista hoje muito difundido, bem como de um grupalismo de tipo socialista à maneira do que no século passado preconizava Proudhon.
Pessoa humana e grupo social são as partes integrantes da Civitas. Pes soa, fator essencial de toda socieda de. Grupo, elemento naturalmente constitutivo da sociedade política (6).
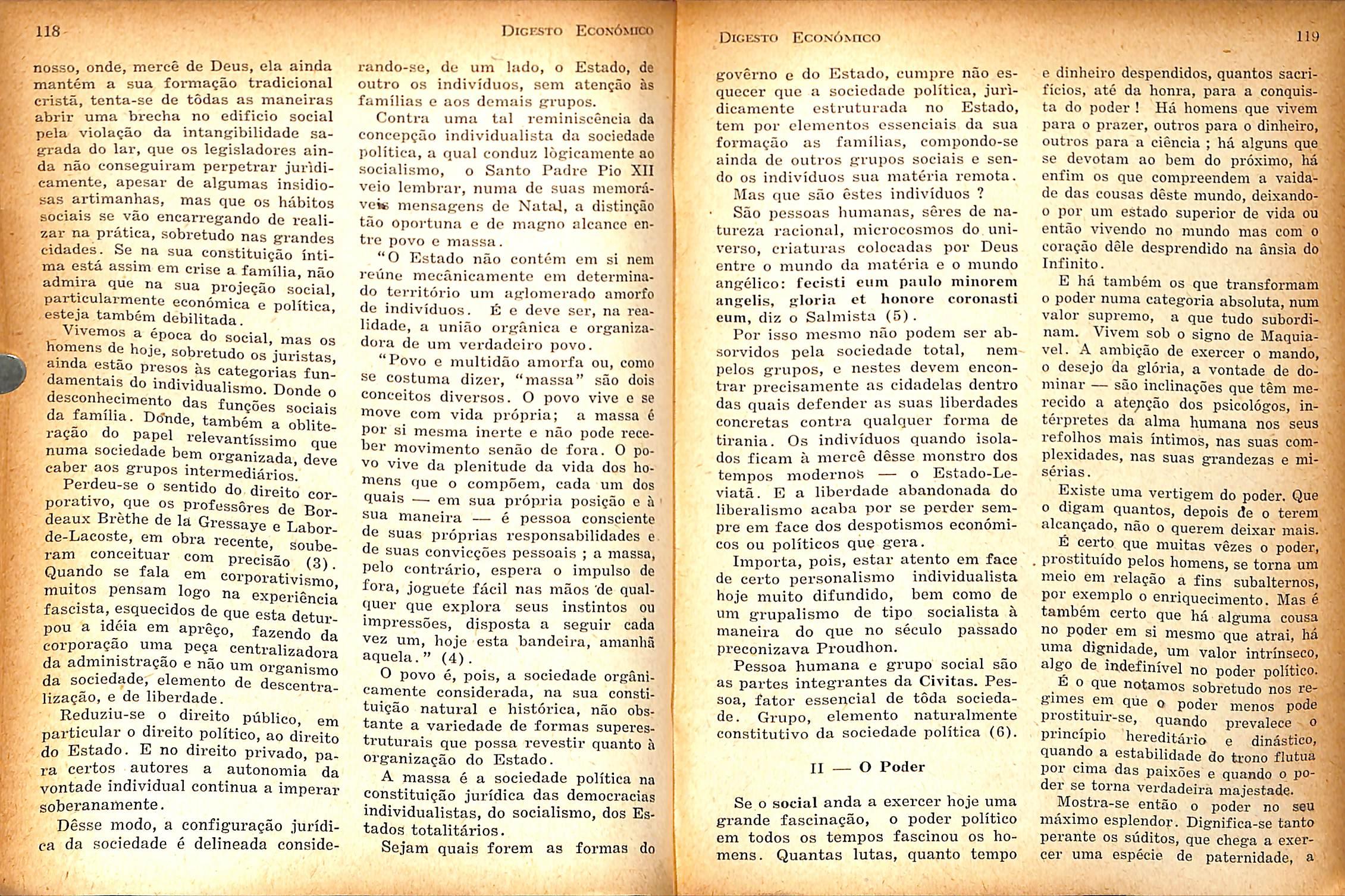
II — O Poder
Se o social anda a exercer hoje uma grande fascinação, o poder político em todos os tempos fascinou os ho mens. Quantas lutas, quanto tempo
Existe uma vertigem do poder. Que o digam quantos, depois de o terem alcançado, não o querem deixar mais.
É certo que muitas vezes o poder, prostituído pelos homens, se torna ura meio em relação a fins subalternos, por exemplo o enriquecimento. Mas é também certo que há alguma cousa no poder eni si mesmo que atrai, há uma dignidade, um valor intrínseco, alç) de indefinível no poder político.
E o que notamos sobretudo gimes em que o poder menos pode prostituir-se,
nos reQuando prevalece o princípio hereditário e dinástico, quando a estabilidade do trono flutua por cima das paixões e quando o po der se torna verdadeira majestade.
Mostra-se então o poder no seu máximo esplendor. Dignifica-se tanto perante os súditos, que chega a exer cer uma espécie de paternidade, a
Dicksto Ecc)NÓ.\nc<> lU)
qual os homens de hoje, imbuídos de espírito igualitarista, não podem com' preendor senão no símile grotesco dos ^ ditadores e demagogos apelidados pais dos pobres.
● Há no poder muito mais do que o - alvo das ambições humanas. Há um mistério ontológico no poder, misté. rio que a liturgia da Igreja traduziu r' na cerimônia da sagração dos reis. !●.' O poder soberano instituído entre ^. os homens participa da soberania ab^ soluta dc Deus governando C e as sociedades. Non est potestas nin si a Deo
o universo sintetiza lapidarmente ; São Paulo (7). ‘ E se 6 falsa a concepção carismáti ca do poder político oriunda do testantismo, damentou proconcepção esta que fun, monarquias de direito jtfí divino, nao menos errô|£ nea é a teoria
as que pvet tende transformar r povo em soberano, invertendo a ordem natuC ral das cousas e fazendo a autoridade for5^ mar-se de baixo L cima em vez de decorR. rer de um princípio suP perior. O poder político ^ não se origina nem de um carisma sobrenatuf ral, nem de uma delegação popular, f. A respeito da origem do poder sempre se têm sabido distingui ^ precisão dois aspectos diferentes do problema: um relativo à essência do poder político ; outro concernente à instituição histórico-jurídica.
o para nem r com sua
Considerando o primeiro aspecto, temos de reconhecer em Deus o prinV cípio da soberania, em qualquer so ciedade e qualquer que seja a forma de governo. Decorre a sociedade da natureza humana, tal como a criou
Deus, e não sendo a vida social pos sível sem uma autoridade, claro que esta provem de uma ordenação divi na. Só o podem ne^jar os materialis tas, j)rofessando o ateísmo ; os deístas (jue concebem a divindade hormèticamente fechada para o universo e recusam admitir a criação ; os que, ã maneira de Rousseau, negarem a so ciabilidade como um atributo natural do homem ; ou ainda o.s que contes tam a necessidade do poder para vida social, como os anarquistas. Mas aquela mesma liberdade que o homem manifesta a par de sua incli nação social imprime um sêlo incon fundível na formação histórico-jurídica do podcj’, determinada por fatos variáveis de povo jmra povo, c nos quai.s a Pi*ovidência, (lue tudo poverna, ao encaminhar n marcha das sociedades, deixa uma larp:a inarícem para o livre proce der humano.
Nem a oripem divina do poder importa eni nepação dessa liberda de, como erradamente ensinam os adeptos da teoria carismática; nem devemos transpor uma das manifestações dc tal liberdade, — por exemplo, a livre vontade do povo, — para o plano su perior e ur^iversal da causa da essên cia do poder, que seria, no caso, a so berania popular. Disse-o Leão XIII em termos bas tante claros, que dispensam comentá rios, fixando com precisão não s6 o ensino tradicional da Igreja mas a doutrina objetiva e histórica, contra o absolutismo monárquico da teoria carismática e o absolutismo democrá tico do povo soberano.
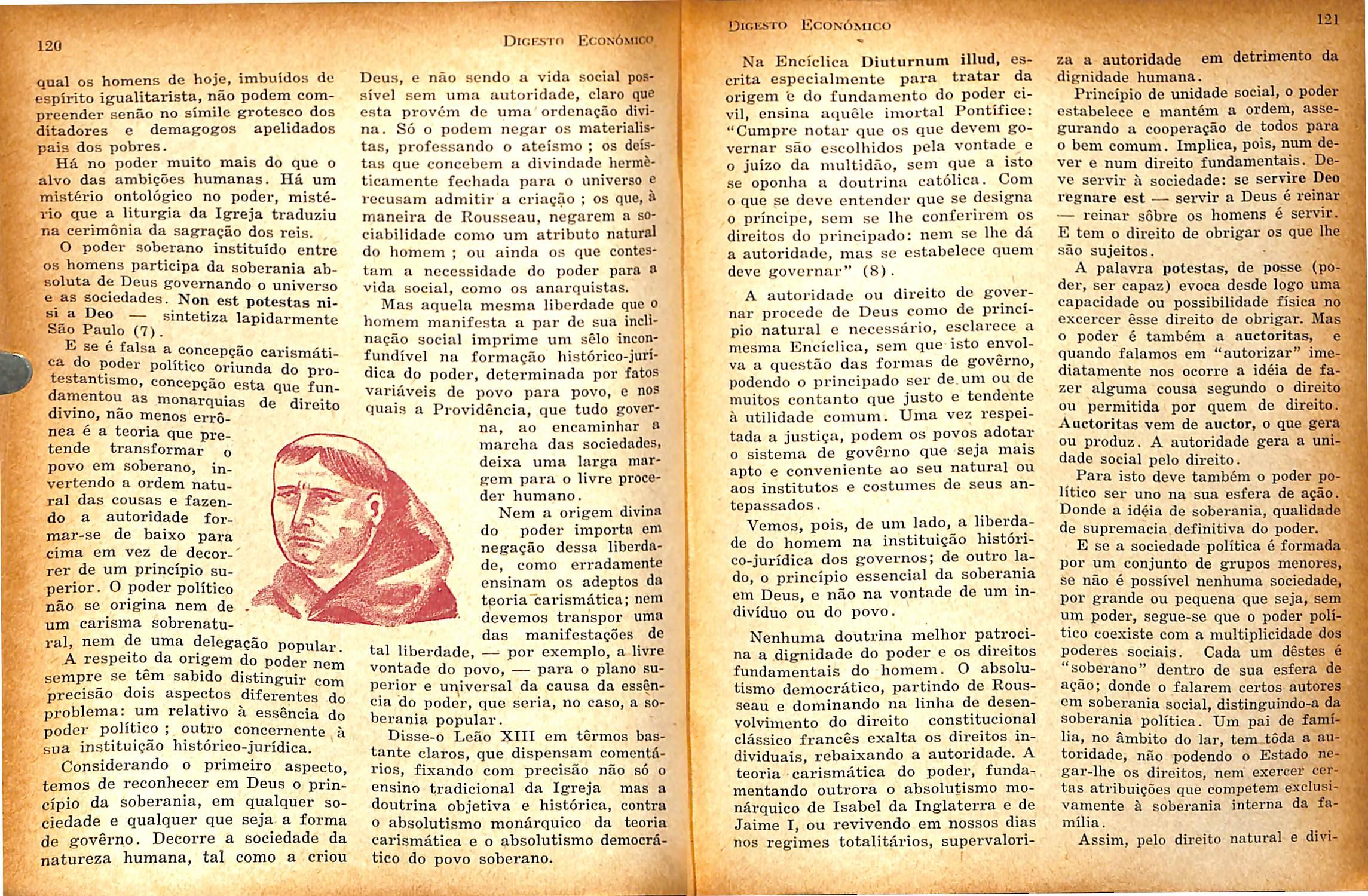
● )y^9 w I 7 ● I ' I^ICI-STO Kconómu .●l f, 120
crita cspeciulmente para origem e do fundamento do poder ci vil, ensina u(juêle imortal Pontífice: “Cumpre notar que os que devem go vernar são e.scolindos pela vontade c o juízo da nuiltidão, sem que a isto .se oi5onha a doutiüna católica. Com o que SC deve entender cpie se designa lhe conferirem os 0 prmcipe, .sem se direitos do principado: nem se lhe dá a autoridatle, mas .se estabelece quem deve governar” (8).
Na Encíclicu Diuturnum illud, estratar da za a autoridade eni dipnidade humana.
detrimento da
Principio de unidade social, o poder estabelece e mantém a ordem, asse gurando a cooperação de todos para o bem comum. Implica, pois, num de ver e num direito fundamentais. De ve servir à sociedade: se servire Deo regnare est — servir a Deus é reinar — reinar sobre os liomens é servir. E tem o direito de obrigar os que lhe são sujeitos.
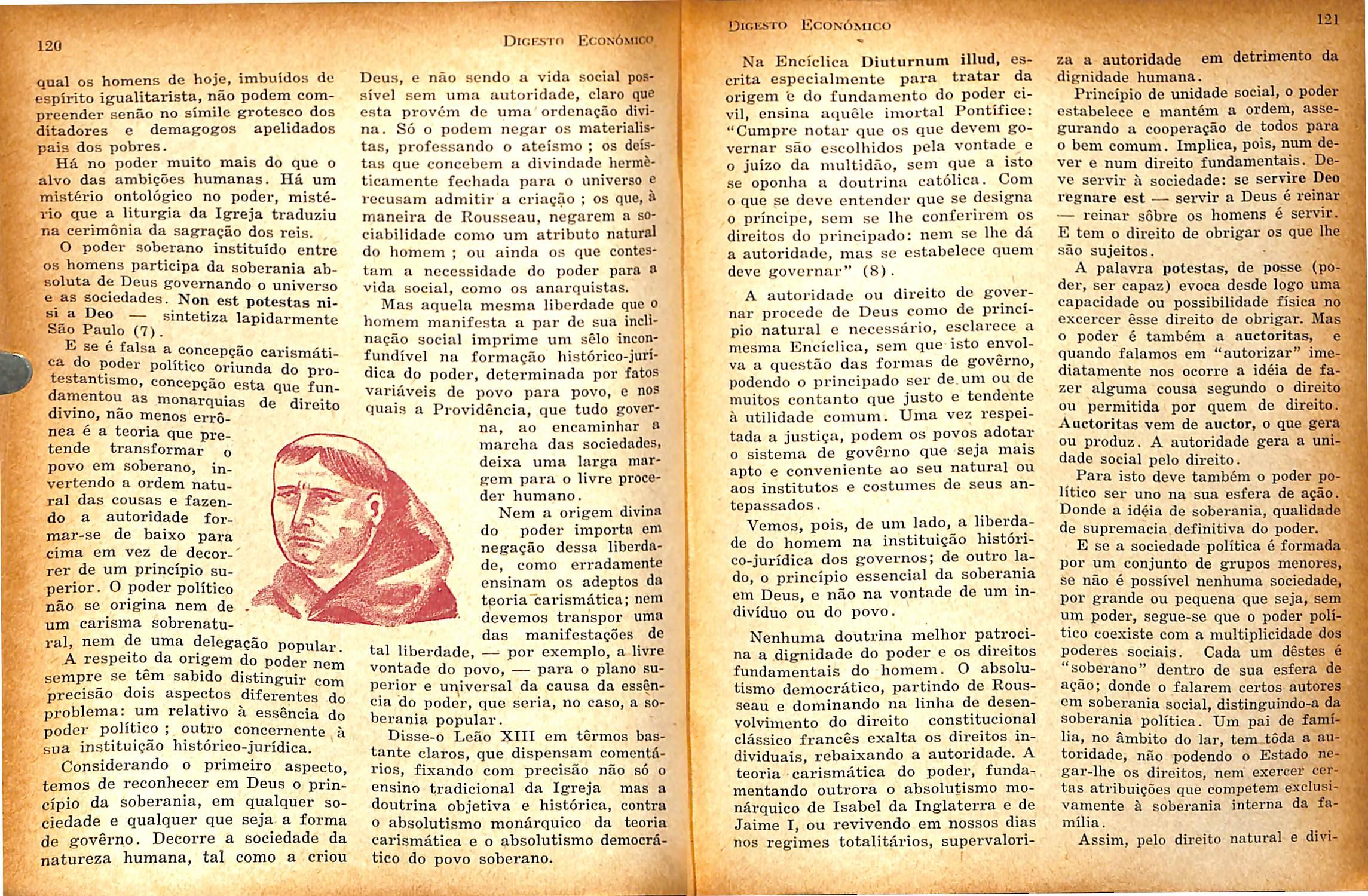
A autoridade ou direito de gover● procede de lleus como de princí pio natural e necessário, esclarece a mesma lOncíclica, sem que isto envola questão das formas de governo, |)odendo o jjrincipado ser do um ou de muitos contanto <iuo justo e tendente ã utilidade comum. Uma vez respei tada a justiça, i>odcm os povos adotar sistema de governo que seja mais apto e conveniente ao seu natural ou üos institutos e costumes de seus antepassu<lo.s.
Vemos, pois, de um lado, a liberda de do homem na instituição liistórico-jurídica dos governos; de outro la do, o piúncípio essencial da soberania em Deus, e não na vontade de um in divíduo ou do povo.
nai va o constitucional
Nenhuma doutrina melhor patroci na a dignidade do poder e os direitos fundamentais do homem. O absolutismo democrático, partindo de Rousseau e dominando na linha dc desen volvimento do direito clássico francês exalta os direitos in dividuais, rebaixando a autoridade. A teoria carismática do poder, funda mentando outroi’a o absolutisnio mo nárquico de Isabel da Inglaterra e de Jaime I, ou revivendo em nossos dias nos regimes totalitários, supervalori-
A palavra potcstas, de posse (po der, ser capaz) evoca desde logo uma capacidade ou possibilidade física no excercer êsse direito de obrigar. Mas o poder é também a nuctoritas, e quando falamos em “autorizar” ime diatamente nos ocorre a idéia de fa-
zer alguma cousa segundo o direito ou permitida por quem de direito. Auctoritas vem de auctor, o que gera ou produz. A autoridade gera a uni dade social pelo direito.
Para isto deve também o poder po lítico ser uno na sua esfera de ação. Donde a idéia dc soberania, qualidade de supremacia definitiva do poder. E se a sociedade política é formada por um conjunto de grupos menores, se não é possível nenhuma sociedade, por grande ou pequena que seja, sem um poder, segue-se que o poder polí tico coexiste com a multiplicidade dos poderes sociais. Cada um destes é “soberano” dentro de sua esfera de nção; donde o falarem certos autores cm soberania social, distinguindo-a da soberania política. Um pai de famí lia, no âmbito do lar, tem tôda a au toridade, não podendo o Estado ncgar-lhe os direitos, nem exercer cer tas atribuições que competem exclusi vamente à soberania interna da fa mília.
Assim, pelo direito natural e divi-
1:21 Díciksio Ecox6mico
educação cabe primeírarnente tural nem mesmo a primeira e o maior, se ao Kstado reconhecemos to da a liberdade a tôda a autoridade pai-a obtenção do seu fim próprio, a mesma autoridade e liberdade deve mos reconhecer a estes outros orga nismos. E assim como nenhum de tais oi'ganismos jamais pode ser au torizado a intei ferir no domínio pró prio do Estado, nem a êste tão pouco se deve pei mitir, sob (lualquer pretex to, a tentativa de usurpar ou prejudi car arbitràriamente, no seu exercício, funções peculiares a entidades difeTentes e que lhe são irredutíveis. (9).
a uma
organização da a erigir o providência
no, a aos pais, à autoridade na família, em bora o Estado possa também reclapai’te que lhe cabe na forma- , mar a ção cívica das gerações. Os assuntos de interesse local numa comunidade Ir urbana devem ficar a cargo das fa mílias aí domiciliadas, cabendo ao Es tado, isto sim, evitar a formação des sas macrópoles asfixiantes onde o ho mem deixa de ser a criatura que pro* vê a si mesma, e se transforma num funcionário burocratizado, num ope rário autômato ou num administrado extorquido por impostos que êle paga ^ entidade abstrata, friâ, impla cável e desumana. A ● produção e do trabalho com maior m í^o^P^^tencia se fará pelos próprios jV interessados reunidos no grupo pro2 fissional a que pertencem, do que peK la formulação de leis abstratas ou UII lo mecanismo centralizador dos instira tutos oficiais, que tendem j' Estado numa espécie de l. dos homens.
Das associações naturais, a família é a primeira e a mais indispensável — nota o mesmo autor — não se de vendo esquecer, jjela sua importân cia, os agrupamentos profissionais e as comunidades de localização terri torial fjue dão origem ao município, entendido como centro autônomo o es pontâneo de vida social, não como simples divisão administrativa.
Restrinja-se o termo “soberania” para designar um atributo da autori dade suprema na órbita do bem . mum nacional, segundo a terminolo gia corrente no direito público; subs titua-se a expressão ciai” por “poder autárquico”, segun do preferem outros, — o fato é que o poder político encontra diante de si uma séiáe de outros poderes gítima autoridade dentro das tivas esferas sociais, * ● que, numa ordem jurídica bem ,' turada, representam limitações trínsecas à soberania do Estado, itrinsecaniente limitada pela lei natu ral e divina.
cosoberania socom lerespecpoderes esses I estruexiní"
Por outras palavras, podemos concluir com Bigne de Villeneiive. Não sendo o Estado a única associação na-
As relações entre essas autoridades sociais e a autoridade central do Es tado, que exerce a soberania política, levam-nos ao terceiro elemento a con siderar.
III — A Representação
O governo representativo é um dos princípios fundamentais do direito político moderno. Quiseram alguns autores tirar-lhe a nota de moderni dade, fazendo-o remontar às socieda des primitivas, para assim o apresen tarem como um imperativo da própria natureza das relações sociais. Guizot vai buscar-lhe as origens nas selvas germânicas e Freeman se compraz em admirar nas assembléias dos teutÒGS o espetáculo mais tarde reprodu-
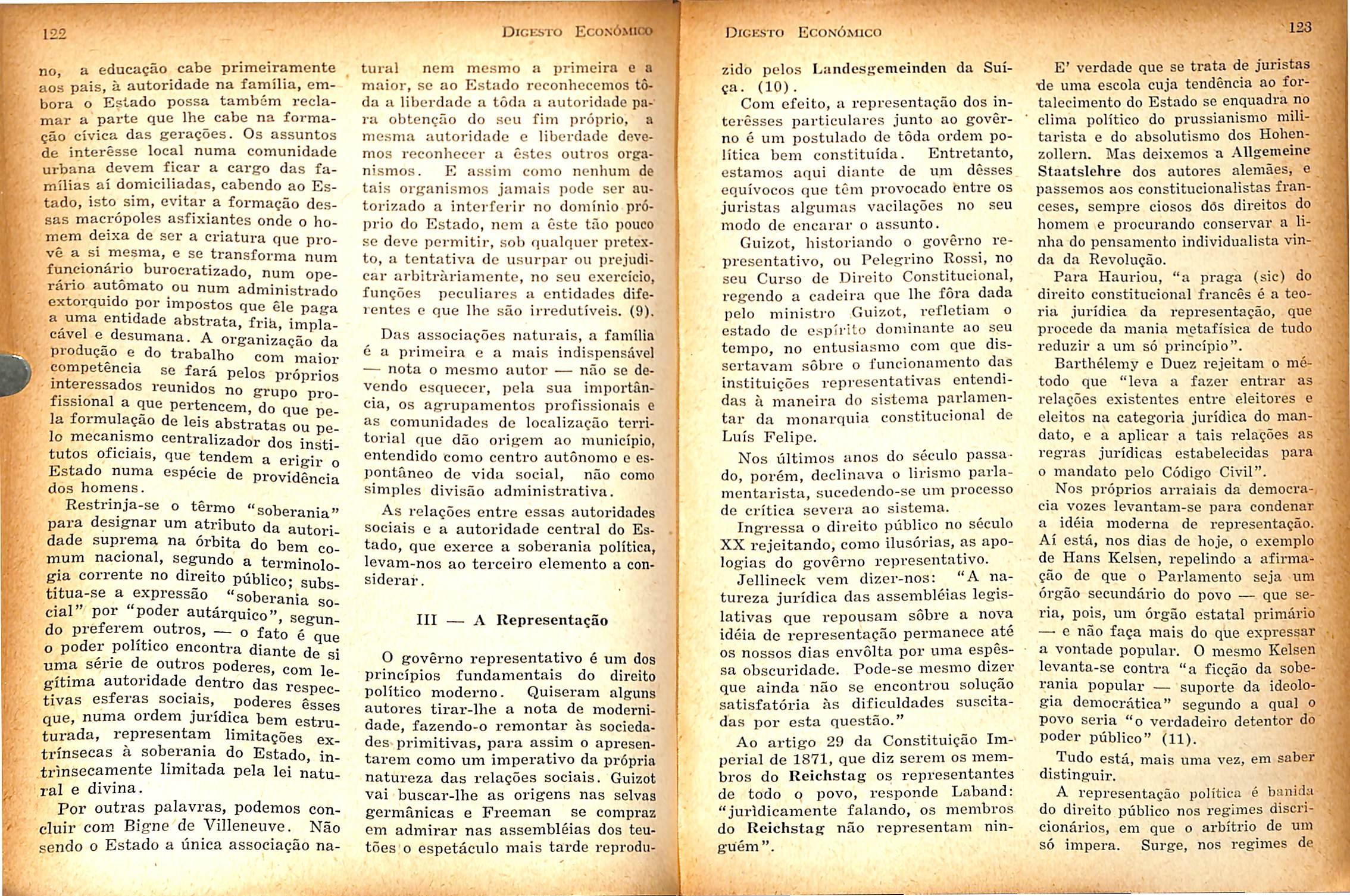
pww ●● 122 Dicmsto EcunómiomH
r ●
zido pelos I^amlesíícmeinden da Suí ça. (10).
E’ verdade que se trata de juristas tie uma escola cuja tendência ao for- ^ talecimento do Estado se enquadra no *
Com efeito, a representação dos in teresses particulares junto ao govêr- ' clima político do prussianismo mili- ; postulado dc tôda ordem po- tarista e do absolutismo dos HohcnEntretanto, zollern. Mas deixemos a .\l!gemeine no e um litica bem constituída.
estamos aqui diante de um equívocos (pie têm provocado entre os juristas algumas vacilações no modo de encarar o assunto.
dêsses Staatslchre dos autores alemães, e passemos aos constitucionalistas frandôs direitos do ceses, sempre ciosos
seu seu
Guizot, historiando o governo re presentativo, ou Pelegrino Rossí, no Curso de Direito Constitucional, regendo a cadeira que lhe fôra dada pelo ministro Guizot, estado de espírito dominante ao seu tempo, no entusiasmo com que dissertavam sobre o funcionamento das instituições representativas das à maneira do sistema parlamen tar da monarquia constitucional de
homem e procurando conservar a li- i nha do pensamento individualista vin da da Revolução.
refletiam o entendi-
Para Hauriou, “a praga (sic) do direito constitucional francês é a teo ria jurídica da representação, que ; procede da mania metafísica de tudo reduzir a um só princípio”.
Barthélemy e Duez rejeitam o mé todo que “leva a fazer entrar as ^ relações existentes entre eleitores e eleitos na categoria jurídica do man- 'í dato, e a aplicar a tais relações as regras jurídicas estabelecidas para _, Luís Felipe.
Nos últimos anos do século passa do, porém, declinava o lirismo parlamentai'ista, sucedendo-se um processo do crítica severa ao sistema.
íngi'essa o direito público no século XX rejeitando, como ilusórias, as apo logias do governo re))i*esentativo.
Jellineck vem dizer-nos: tureza jurídica das assembléias legis lativas que repousam sôbre a nova idéia de representação permanece até os nossos dias envolta por uma espêssa obscuridade. Pode-se mesmo dizer que ainda não se encontrou solução sati.sfatória às dificuldades suscita das por esta questão.”
o mandato pelo Código Civil”.
Nos pi'óprios arraiais da democra cia vozes levantam-se para condenar a idéia moderna de representação. Aí está, nos dias de hoje, o exemplo i de Hans Kelsen, repelindo a afirmaA na- ção de que o Paidamento seja um _' órgão secundário do povo — que se ria, pois, um órgão estatal primário _' — e não faça mais do que expressar a vontade popular. O mesmo Kelsen levanta-se contra “a ficção da sobe rania popular — suporte da ideolo gia democrática” segundo a qual o povo seria “o vei'dadeii*o detentor do poder público” (11).
Ao artigo 29 da Constituição Im perial de 1871, que diz serem os bros do Keichstag os representantes de todo o povo, responde Laband: juridicamente falando, os membros do Reichstag não representam nin-
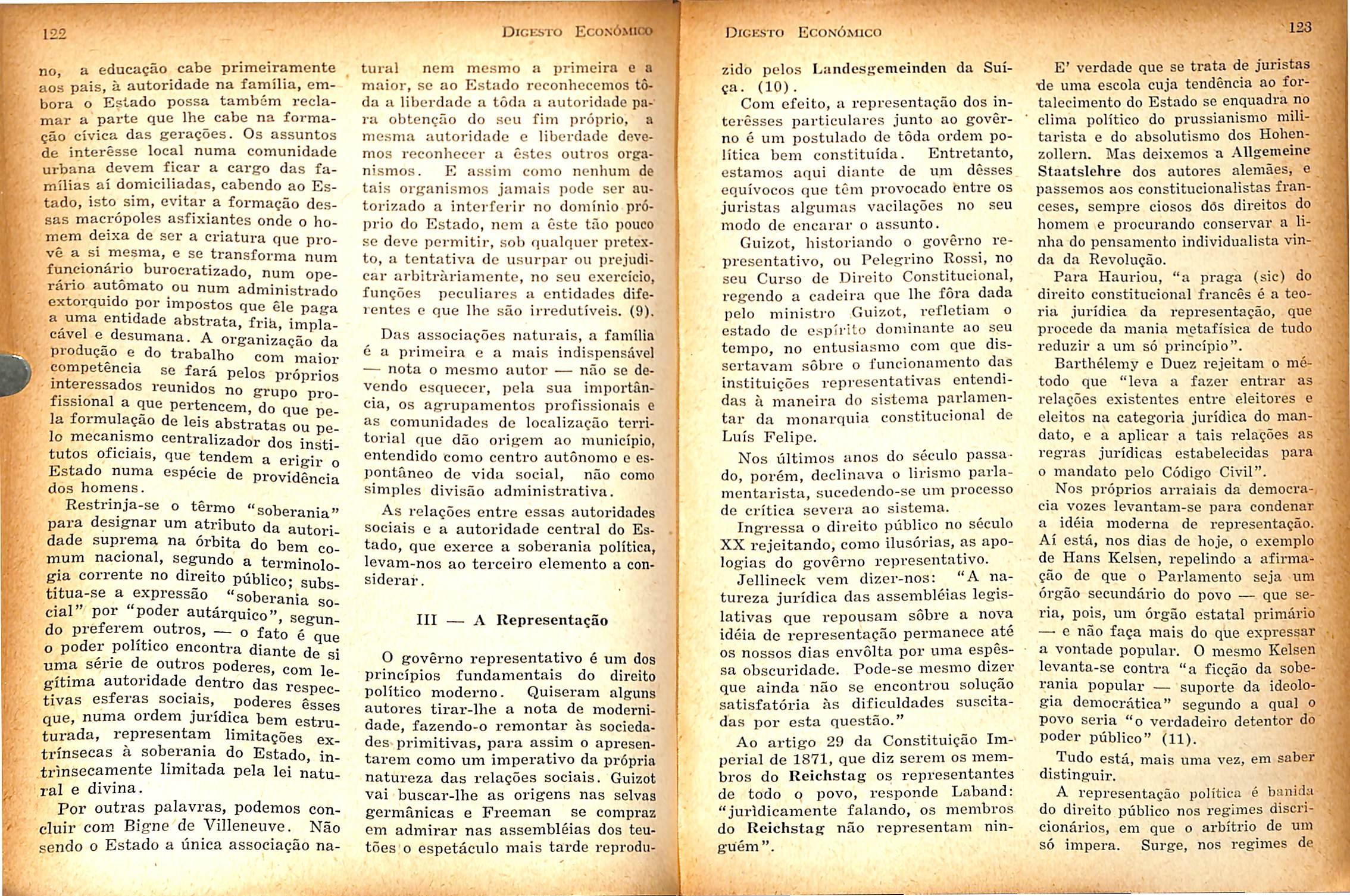
guem
mem-
Tudo está, mais uma vez, em saber distinguir.
A representação política é banida do direito público nos regimes discri cionários, em que o arbítrio de um só impera. Surge, nos regimes
● 123 DiGi-lSTÍÍ Econónuco
'_\ í ●> 1 1 ●_4 l
de
submissão do Estado ao direito, daquela dialética abstrata que como forma naturalmente mais adequada para estabelecer a concordância e plena harmonia entre o Estado e
-a a naçao.
Entretanto, não se deve confundir idéia de representação política e teorias da representação elabora^ das pelo direito revolucionário moderno, teorias baseadas nas ficções / contra as quais se voltam hoje mui. tos juristas deixando falar mente o bom-senso.
a as simples-
está no ocial.’ de Rousseau. ^Deixaíd"*” de lado a concepção natural rica que vê na sociedade conjunto de grupos,siderá-la uma simples
-se e histópolítica um passou-se a con5 * /V soma de ínrlí , viduos. O povo foi substituído ’!«■ massa nas democracias pela ittodernas E ^ i*epresentação ser a xpressão
VJ,. consequentemente política deixou de dos interêsses concretos dos através dos grupos naturais ficiais em que vivem k:'
e 'k
l^omens ou artida família Estado — tornando£● mandato de uma vontade ^ . trata e nebulosa, encarnad^a sembléias legislativas.
T. ■
Muitos são os problemas prendem a um assunto de tão tante atualidade como êste.
os
sos Oliveira Viana não perdoou em Rui Barbosa, e sim com as vistas volta das para as condições peculiares do meio ambiente em que vivem, para ensinamentos sempre oportunos da história, para as ti^adições sociais e os costumes políticos de cada povo.
Pois aí estão alíruns aspectos de tema tão vasto e relevante: a análise do conceito medieval da representa ção corporativa em confronto com a idéia moderna da representação in dividualista; atual sistema representativo tendo em vista a tendência da sociedade contemporânea para as especializações técnicas; a superação definitiva do sufi*áífio universal inorfrãnico e individualista, próprio a favorecer o regime de massas; enfim, uma revi são corajosa das noções há um sé culo dominantes no direito político mais pela força de preconceitos e de um certo respeito humano do que pela objetividade científica.
Que as gerações novas, ensaiandose nos bancos acadêmicos, venham juntar-se aos mestres para esta obra de revisão, tão necessária e urgente.
ao -se o í suposto geral absnas as- (1) L. LACHANCE. O. P.. L-humanUme politique de Sainl Thomas. R. Sirey. Paris: Ed. du Lévrier, Ottawa, 1939. II. p. 419.
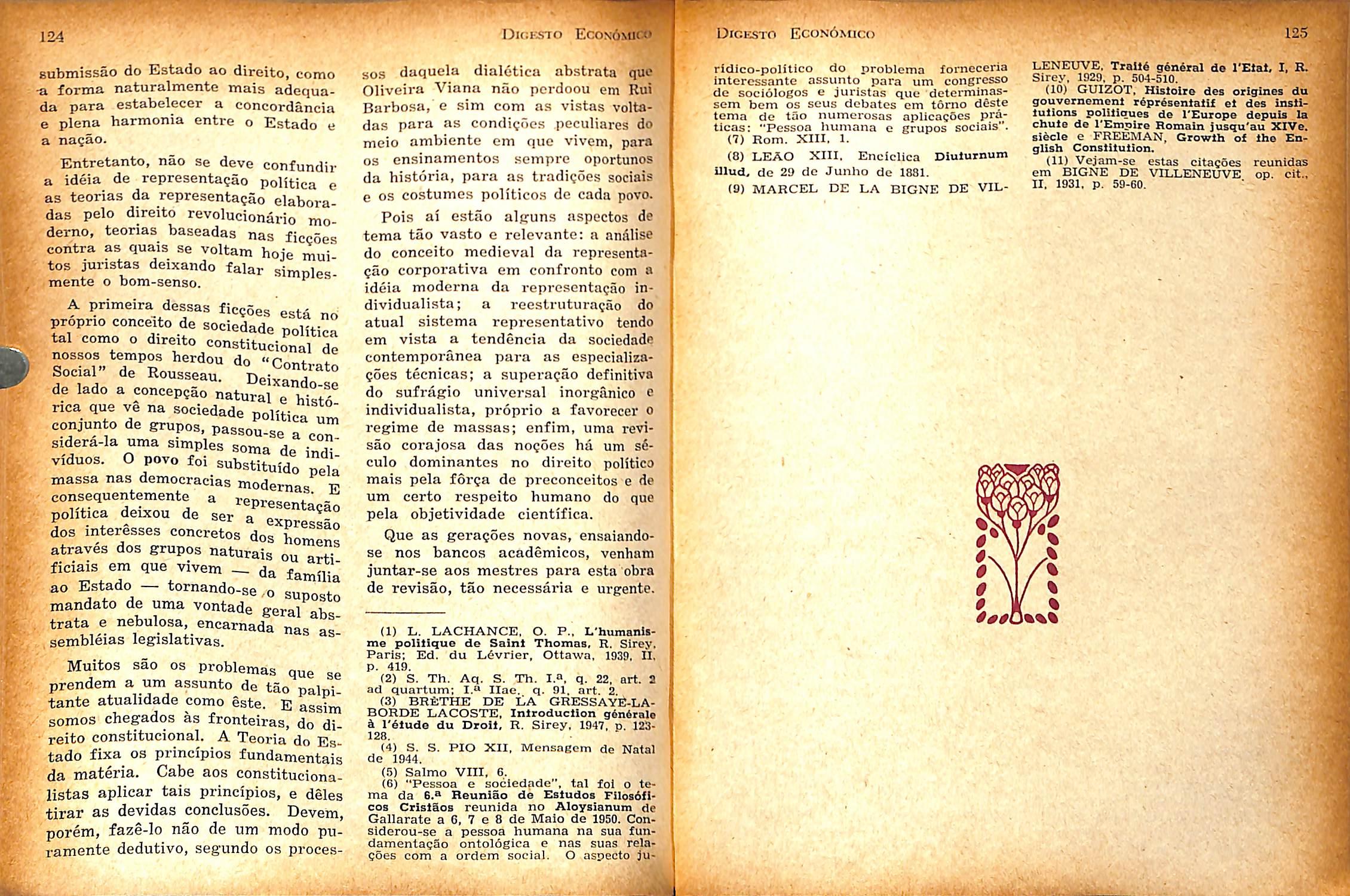
(2) S. Th. Aq. S. Th. I.o. q. 22, art. 2 ad quartum; I.a Ilae. q. 91. art. 2. (3) BRÊTHE DE LA GRESSAYE-LABORDE LACOSTE, iniroduetion générale à rélude du Droil, R. Sirey. 1947, p. 123-
128.
(4) S. S. PIO XII, Mensagem de Natal de 1944.
a-
(5) Salmo Vni, 6. (6) “Pessoa e sociedade”, tal foi o te ma da 6.^ Reunião de Estudos Filosófi cos Cristãos reunida no Aloysianum de Gallarate a 6, 7 e 8 de Maio de 1950. Considerou-se a pessoa humana na sua fun damentação ontológica e nas suas rela ções com a ordem social. O aspecto ju-
P -● I)ic;tsio Económu' 124 f* f"
reestruturação do a A primeira dessas ficções próprio concrito de sociedade política tal como o d.rerto constitucional dc nossos tempos herdou do . S
que se - palpi, j > ® assim somos chegados as fronteiras, do di reito constitucional. A Teoria do Es tado fixa os princípios fundamentais da matéria. Cabe aos constitucion listas aplicar tais princípios, e dêles tirar as devidas conclusões. Devem, porém, fazê-lo não de um modo puramente dedutivo, segundo os procesl ► . r. .Jè k.
ridico-político do problema fornecería interessante assunto para um congresso do sociólogos e juristas que determinas sem bem os seus debates em tôrno dêste tema de tao numerosas aplicações prá ticas: “Pessoa humana e grupos sociais”.
(7) Rom. XIII. 1.
(8) LEAO XIII. Eneiclica Diulurnum illud. de 29 do Junho de 1881.
LENEUVE. Tralté général de 1'Eial. I, R. Sirey, 1929, p. 504-510.
(10) GUIZOT, Histoire des origines du gouvornemeni réprésenlallf el des instltuiions politioues de IXurope depuis la chute de l'Empire Romaln jusqu'au XlVe. siècle e FREEMAN, Growlh ol lhe English Constilution.
(11) Vejam-se estas citações reunidas em BIGNE DE VILLENEUVE op. cit.. II. 1931. p. 59-60.
(9) MARCEL DE LA BIGNE DE VILi
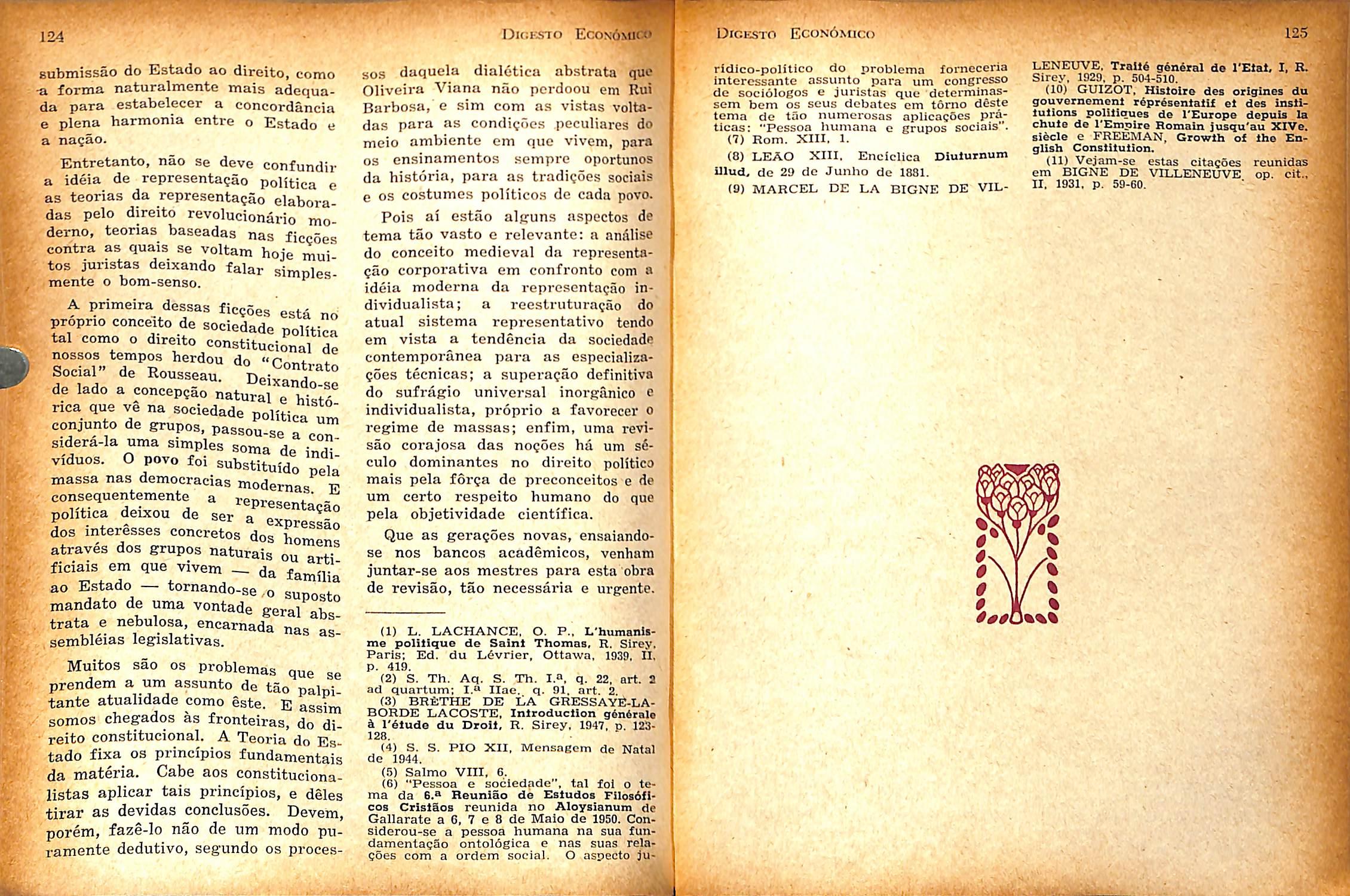
Digksto Econômico 125
T
1
VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
 PlMENTKI, COMK.S
PlMENTKI, COMK.S
IJÁ alguns anos, num café de Re cife, dizia-me o Prof. Melo Mo rais, diretor da Escola Superior de Agricultura Piracicaba, Amazônia para compreender a gran deza do Brasil. E afirmava, ainda impressionado com o que tinha visto, que do Maranhão para o sul tudo era subúrbio.
jestade. De.stacam-so .‘iumaumeilas e castanheiras com cimiuenta e ses senta nieti’os de altura e diâmetros avantajados. Os açaizeiios são fle xíveis e esbeltos. As paxiúbas, nos igapós, sobem cm verdadeiras andas, fugindo da umidade. Uiscam-se rodas
De fato, para o brasileiro de outr rmcoes, os . _ a Amazônia choca, de.sde inicio, pela imensidade, cias são enormes. C dez horas de Belém
o nm a Manaus, e PôrtrVolt.““ " em Os vapores, inclusive os transatlânticos, precisam de seis transportarem de Belem a Manaus. De Manaus a Rio Branco, sobre o Acre do Sul, sobre 0 Juru ou a Cruzeiro j são vinte a á, zeiro...
As di.stâ O avião vai e
trinta dias de navegação gaiola ou uma chatinha. i tem, em seu último trecho ze quilômetros de largura, além de Manaus, se
para um O Tapajós nns quin0 Negro, . apresenta uns cinquenta quilômetros de mai a margem. Há ■ com gem . . águas fluviais . amazônicas, milhares de ilhas mas muito grandes. ’ tam-se aos milhares
alguconapresentam — averazuis, esbifinciui' A. floresta ó des pam OH ((ue Esmaga pela vastidão, pola riqueza, pelas di mensões das árvores, pela variedade de aspectos, pela densidade, pola ma-
de cari-o em algumas sapupomas. Formigas e taxizeiios vivem em sim biose, que lhes é utilíssima. do alto. Vistas as vitórias-1'égias paí*ccem imensas bandejas esmcraldinas, maltando as águas dos lagos. Abremse furos e igarapés misteriosos em plena selva. Os jacarés, às centenas, tomam sol nas praias alvinitentos ou descem de bubuia, (luase invisíveis. A floresta sitia as cidades. E há as tragédias vegetais como a do ouricuri. lentamente e impiodosamente envol vido e como que ti-agado pelo apul-
es-
o
Admirável Amazônia... A borra cha deu-lhe fastígios extraordinários, numa época em que para o bériberi, impaludismo c a febre amarela não bavia remédios eficientes. Tornou possível sua exploração e seu povoa mento. Permitiu a campanha acreanna. A queda de suas cotações mer gulhou a planície em espantosa mi séria, apenas mitigada pela casta- . nha, pela batata, por umas tantas üli*agiTit)HíiH e pcila mudoíva. ram da Amazônia. FdÜZmcntp truljalho.s cxiKirimüiil.iii» rcalizadüfl a Instituto Agronômico do NorU> outras dependências do Ministério d» Agricultura, bem como o progrcSSo da ciência o dn técnica, permitiram
Os lagos e se com quase todas as cores elhadoB, verdes e/ífuroo himbranto, até mesmonada sabem de botânica. J
Descreos c eni
“Luiz de Queiroz”, de que era preci.so ir à I
m
a organização do uin i)lano de valo rização da Amazônia. Está entran do em execução. Tendo a modificar totalmente o aspecto da planície ama zônica, civilizando-a, integrando-a mento no movimento asccnsional bra sileiro. Vale a pena conhecê-lo, em bora em seus traços gerais, zônia ainda repi'osentará muito para a economia brasileira.
enricpiecendo-a, povoando-a, inteiraA Ama-
midnight and dawn, the cold is so penetrating as to be positively uncomfortable. Night temperatures of around 60 F (15,5 graus centígi’ados) aro by no means uncommon. In the daytime the tcmperature rises to 80 (27,5 graus centígrados) or to 90 F. (31,5 graus centígrados). It miglit be said that the night is the \vinter !§ of theSe tropical regions.
SOLOS CLIMA
9f
1
O clima é <iuente e úmido no vale. úmido nos No sudoesMenos quente e planaltos que o envolvem, te da Amazônia há, no inverno, as friagens, que são ondas de frio. Cada uma delas dura vários dias. A tem peratura, então, sob a ação do vento sul, cai rapidamente e apresenta mí nimas relativamente muito baixas 10, 8, 6, ou 4 graus centígrados, con forme a localidade, e até menos. No a mínima mais frequente é 8 O inverno da maior parte da
menos Acre, graus.
Há, de um modo geral, três tipos de solo na Amazônia: quaternários ' modernos; quaternários antigos e ter ciários arqueanos.

Os primeiros são encontradiços nas ' várzeas, nas ilhas, nos igapós. Ficam inundados nas grandes cheias. Representam muito mais de 300 mil quilômetros quadrados. Carlson calcula-as em mais de 600 mil quilômetros quadrados. Apenas em Marajó há 22 mil quilômetros quadrados dês- ’> te solo.
, há uns 60 mil quilômetros quadrados, inclusive Amazônia é, po rém, à noite, propósito, escreveu Carlson, professor de Geografia da Universidade d e
A Ohio, em “Geography of Latin Ame rica: down in the AmaLowland the
After sunzon air rapidiy becochilly. mes r;\ ^ -V... In m a » y placea, e,‘jp0CÍally during t h o b e t w c e n hours
No delta interno
DrciúSTO Ecox6^uco 127 ●
3
1
* I
1
nomo
a área inundável de Marajó. O agrôFelisberto de Camargo verificou que podem ser consideravelmente au mentados pela colmatagem de muitos lagos, ligando o Amazonas ao lago. águas do grande rio penetram-no até mesmo na estação seca e nêle depo sitam o limo fértil, proveniente dos Andes Alguns lagos já estão sondo colmatados.
de mil e duzentas toneladas vão de Belém a Pôrto Velho, Bôea do Acre, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul» e penetram as terras do Peru e da Para isto, abre-se um canal Colômbia. Chatinhas do cem tone-
t k
Os solos quaternário extraordinariamente tem sido do In<?tif. trabalhos r São df f í^^orte. r Sao de fertd.dad
P■ ' trazem^^"
s recentes são férteis, - como e inesgotáveis, pois os deltas da In-
se Solos que encarregam de adubá-los. semelhantes d tivos Neles a densidade demográfi ca e de ate umas mil pessoas lometro quadrado. por qui-
As ladas atingem a Bolívia, om Cobija* no alto rio Acre. Lanchas vão a Bolpebra, no Peru, perto das nascentes do rio Acre. As estradas de ferro de Bragança e Madeira-Mamoré fo ram melhoradas. Há algumas cente nas de quilômetros de estradas de rodagem em tráfego e outras cente nas em construção. A mais importan te, concluída em parte, ligará Pôrto Velho a Cuiabá. Está sendo atacada pelas duas extremidades. Já há gran des trechos em tráfego. Dentro dc um lustro, talvez, poderemos ir no Acre de automóvel.
ALOUiMAS CULTURAS
De < um modo geral, as culturas anuais devem ser feitas nos solos quaternários modernos, cuja fertilida de, repitamos, é excepcional. Ade mais, dispõem do mais barato dos meios de transporte — a navegação fluvial. E podem produzir, sem inter rupção, de janeiro a dezembro, dan do duas safras por ano.
para (,● >● ^ / A
Os solos arqueanos, encontradiços nos planaltos Guiânico e Brasileiro são muito menos férteis que os qua ternários modernos e mais férteis que os quaternários antigos e os ter ciários.
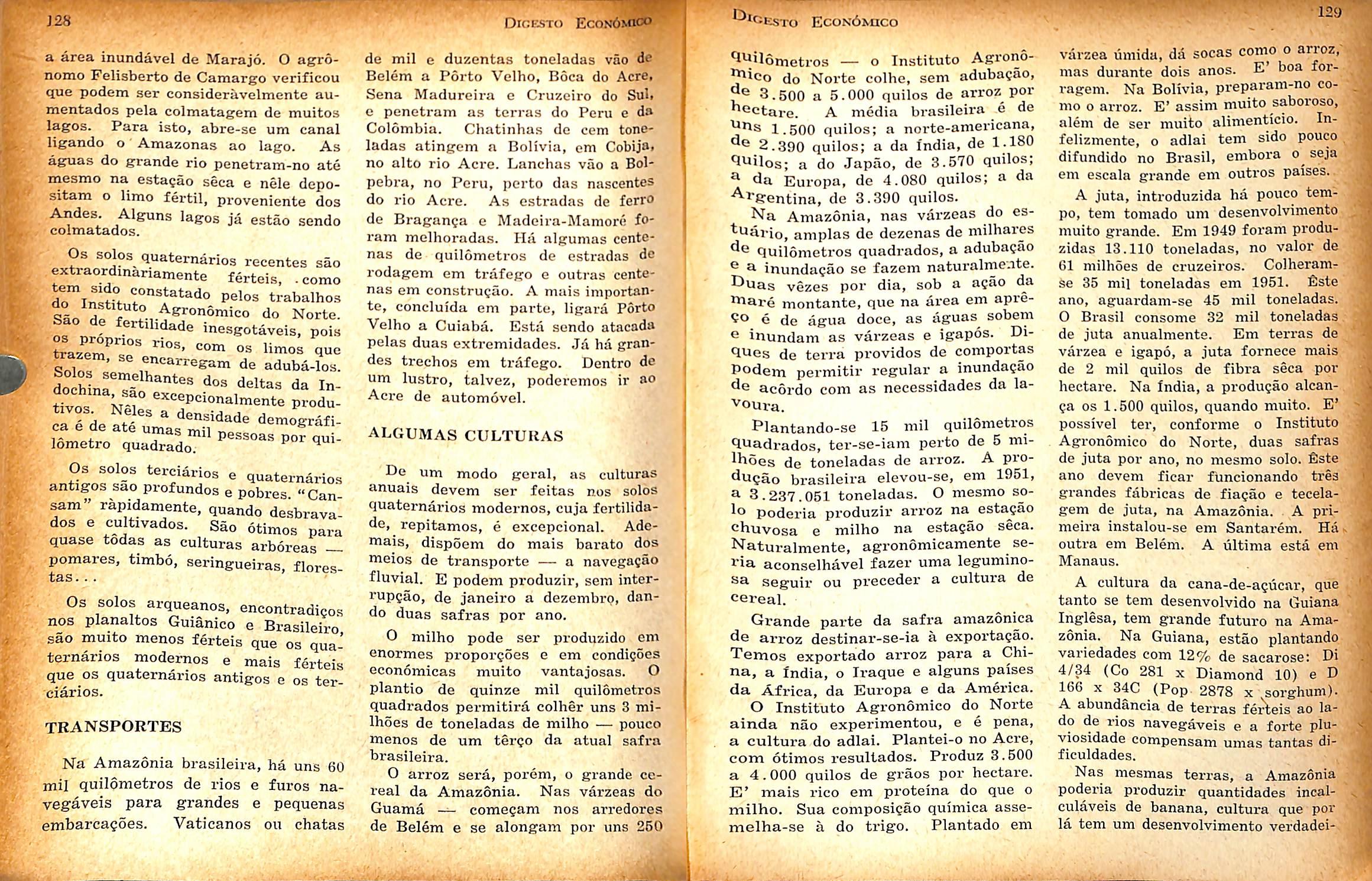
transportes
Na Amazônia brasileira, há uns 60 mil quilômetros de rios e furos na vegáveis para grandes e pequenas embarcações. Vaticanos ou chatas
O milho pode ser produzido cm enormes proporções e em condições econômicas muito vantajosas, plantio de quinze mil quilômetros quadrados permitirá colher uns 3 mi lhões de toneladas de milho — pouco menos de um terço da atual safra brasileira.
O começam nos arredores
O arroz sei'á, porém, o grande ce real da Amazônia. Nas várzeas do Guamá de Belém e se alongam por uns 260
J28 DronSTo Ecf)N6^^co
Os solos terciários e quaternários antigos sao profundos e pobres. “Canrapidamente, quando desbrava dos e cultivados. São ótimos quase todas as culturas arbóreas pomares, timbó, seringueiras, florestas.. .
^Wilôrnetios do Norte colho, sem 3.500 a 5.000 quilos de arroz por hectare.
Instituto Agronôadubação. o de A média brasileira e
1.500 quilos; a norte-americana, 2.390 quilos; a da índia, de 1.180 ^^ilos; a do Japao, de 3.570 quilos; ^ Europa, de 4.080 quilos; a da ■^''Rentina, de 3.300 quilos. Na Amazônia, nas várzeas ^^ái*io, amplas de dezenas de milhai'cs quilômetros quadrados, a adubação ® ^ inundação se fazem naturalme.ite. ^uas vêzes por dia, sob a ação d^a Jnaré montante, que na área em aprêÇo c de água doce, as águas sobem ® inundam as várzeas e igapós. Dique.s de terra providos de comportas inundação
do esPodem permitir regular a
acordo com as necessidades da la'"oura.
Plantando-se 15 mil quilômetros quadrados, ter-se-iam perto de 5 miP^ões de toneladas de arroz, ^uçâo brasileira elcvou-se, em 1951, ^ 3.237.051 toneladas. O mesmo lo poderia produzir arroz na estação milho na estação sêca. Naturalmente, agronômicamente selúa aconselhável fazer uma leguminoa cultura de
A prosochuvosa e seguir ou preceder sa
cereal.
Grande parte da safra amazônica de arroz destinar-se-ia à exportação. Temos exportado arroz para a Chi na, a índia, o Iraque e alguns países da África, da Europa e da América.
O Instituto Agronômico do Norte ainda não experimentou, e é pena, a cultura do adiai. Plantei-o no Acre, ótimos resultados. Produz 3.500 a 4.000 quilos de grãos por hectare, proteína do que o milho. Sua composição química asse melha-se à do trigo. Plantado em
com E’ mais rico ein
várzea úmida, dá socas como o arroz, mas durante dois anos. E’ boa forNa Bolívia, preparam-no coE’ assim muito saboroso, ragem. mo 0 arroz, além de ser muito alimentício, adiai tem sido pouco Brasil, embora o^ seja em escala prande em outros países.
Infelizmente, o difundido no
A juta, introduzida há pouco tem po, tem tomado um desenvolvimento muito grande. Em 1949 foram produ zidas 13.110 toneladas, no valor de (51 milhões de cruzeiros. Colheramse 35 mil toneladas em 1951. Êsle ano, aguardam-se 45 mil toneladas. O Brasil consome 32 mil toneladas de juta anualmente. Em terras de várzea e igapó, a juta fornece mais de 2 mil quilos de fibra sêca por hectare. Na índia, a produção alcan ça os 1.500 quilos, quando muito. E’ possível ter, conforme o Instituto Agronômico do Norte, duas safras de juta por ano, no mesmo solo. Êste ano devem ficar funcionando três grandes fábricas de fiação e tecela gem de juta, na Amazônia. A pri meira instalou-se em Santarém. Há outra em Belém. A última está em Manaus.
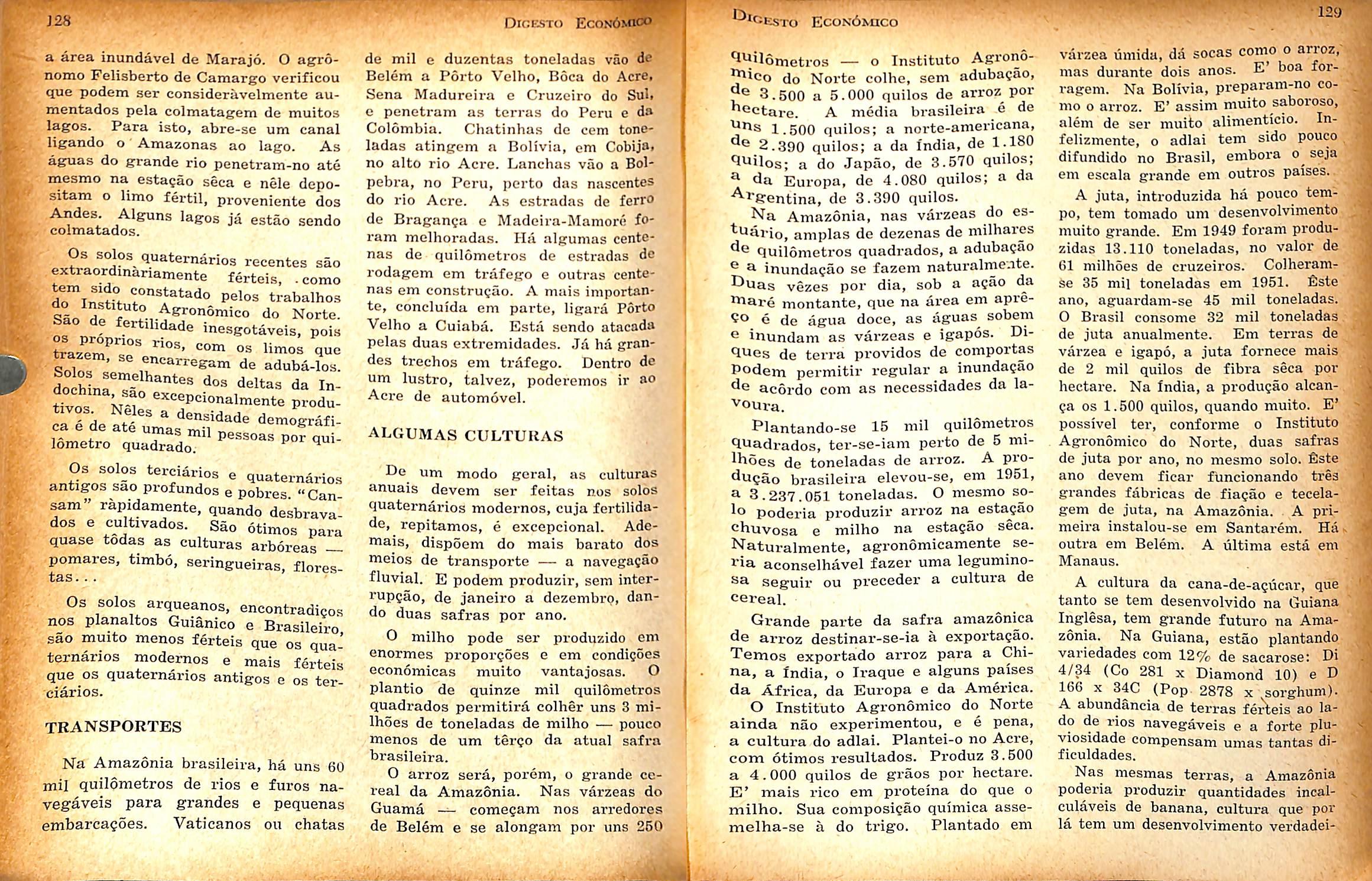
A cultura da cana-de-açúcar, que tanto se tem desenvolvido na Guiana Inglesa, tem grande futuro na Ama zônia, Na Guiana, estão plantando variedades com 12% de sacarose: Di 4/34 (Co 281 X Diamond 10) e D
166 X 34C (Pop 2878 x sorghum). A abundância de terras féi^eis ao la do de rios navegáveis e a forte plu viosidade compensam umas tantas di ficuldades.
Nas mesmas terras, a Amazônia poderia produzir quantidades incal culáveis de banana, cultura que por lá tem um desenvolvimento verdadei-
129 ●^ici.:s-ro EcüNÓKaco
1
ramente extraordinário. E que bavarier i, i. i
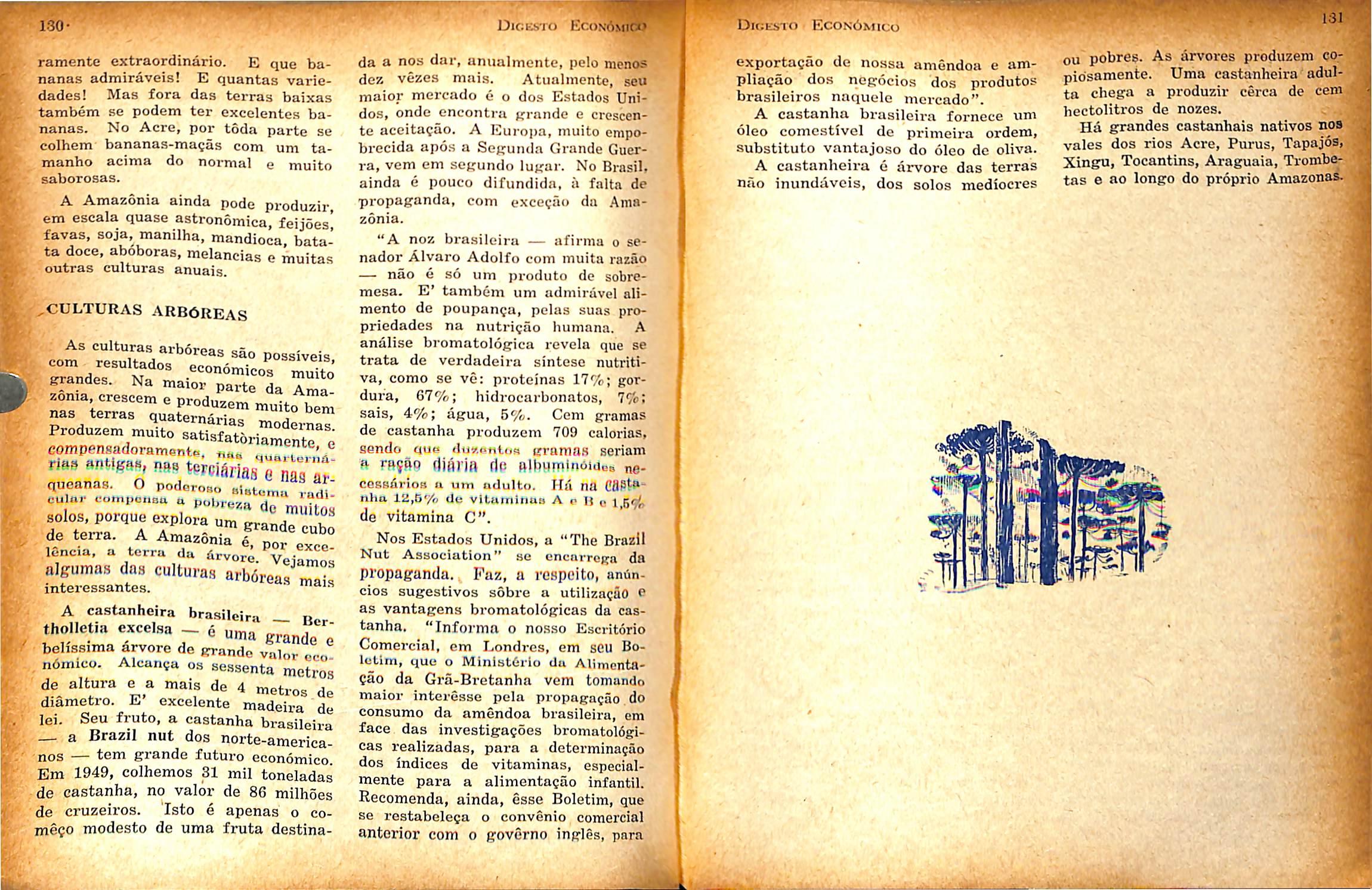
V
nanas admiráveis! E quantas dades! Mas fora das terras baixas também se podem ter excelentes ba nanas. No Acre, por tôda parte colhem bananas-maçãs com um ta manho acima do normal
saborosas.
se e muito
A Amazônia ainda pode produzir, em escala quase astronômica, feijões favas, soja, manilha, mandioca, bata^ ta doce, abóboras, melancia outras culturas anuais.
-
4 1
,
CULTURAS ARBÓREAS
As culturas arbórea , com resultados , grandes. Na s são possíveis, econômicos muito maior parte da Ama zoma, crescem e produzem nas terras ^ muito bem quaternana
, Produzem mmto sutisfatòriamontr e compí^nsadorarnenu. ri», a,.4g»,, nau terrii^,|a;7;,;;"'“üfo p qiiennas odoro milnr conípcnoa , rudii-oio eza de miiUos A Am. - ‘í"’ lêncla, a terra T ■ nigiima.s dn.s culturas arbóreasTah interessantes. «nais
u solos, porque explor de terra.
■i , de altura e a mais de 4 diâmetro. E’ excelente metros de „ j, , madeira de lei. Seu fruto, a castanha brasileira __ a Brazil nut dos norte-america■ nos — tem grande futuro econômico r Em 1949, colhemos 31 mil toneladas de castanha, no valor de 86 milhões de cruzeiros. Isto é apenas meço modesto de uma fruta destinao CO-
“A noz brasileira — afirma o se nador Álvaro Adolfo com muita razão — não é só um produto do sobre mesa. E’ também um admirável ali mento de poupança, pelas suas pro priedades na nutrição luimana. .A análise bromatológica revela que se trata de verdadeira síntese nutriti va, como se vê: proteínas 17%; gor dura, 67%; hidrocarbonatos, 7%: sais, 4%; água, 5%. Cem gramas de castanha produzem 709 calorias, sendo trrunia.s seriam ft ração flinrjlt fjn plhuminúiüo CGssárioH a um adulto, fíá nU nha 12,D% de viluminun A o |{ ^ \ 5% tle vitamina C”.
B ne-
Nos Estados Unidos, a "The Brazll Nut Association” se enenrroga da propaganda. Faz, a respeito, anúncios sugestivos sobre a utilização e as vantagens bromatológicas da cas tanha. Infoima o nosso Escritório A castanheira brasileira — iw tholletia excelsa ^ é uma grande õ / behs.sima arvore de grande vnl nómico. Alcança 03 sessenta metros or oco-
Comercial, em Londres, em sGU Bo letim, que o Ministério du Alimenta ção da Grã-Bretanha vem tomando maior interêsse pola propagação do consumo da amêndoa brasileira, face das investigações bromatológi cas realizadas, para a determinação dos índices de vitaminas, especial mente para a alimentação infantil. Recomenda, ainda, êsse Boletim, que se restabeleça o convênio comercial anterior com o govêrno inglês, para
em
J3if;Es'i'0 KcoNÓNjti íí
da a nos dar, anualmente, polo deK vêzes mais. maior mercado é o dos Estados Uni dos, onde encontra j^randc e crescen te aceitação. A Europa, muito empo brecida apó.s a Se;fumla Grande Guer ra, vem em scírundo lujíar. No Brasil, ainda é pouco difundida, à falta de propag^anda, com exceçfu» da .Ama zônia. ■J
menos Atualmente, seu
s e muitas
s modernas
ou exportação de nossa amêndoa e am pliação dos negócios dos produtos brasileiros naquele mercado”.
A castanha brasileira fornece um óleo comestível de primeira ordem, substituto vantajoso do óleo de oliva.
A castanheira é árvore das terras não inundáveis, dos solos medíocres
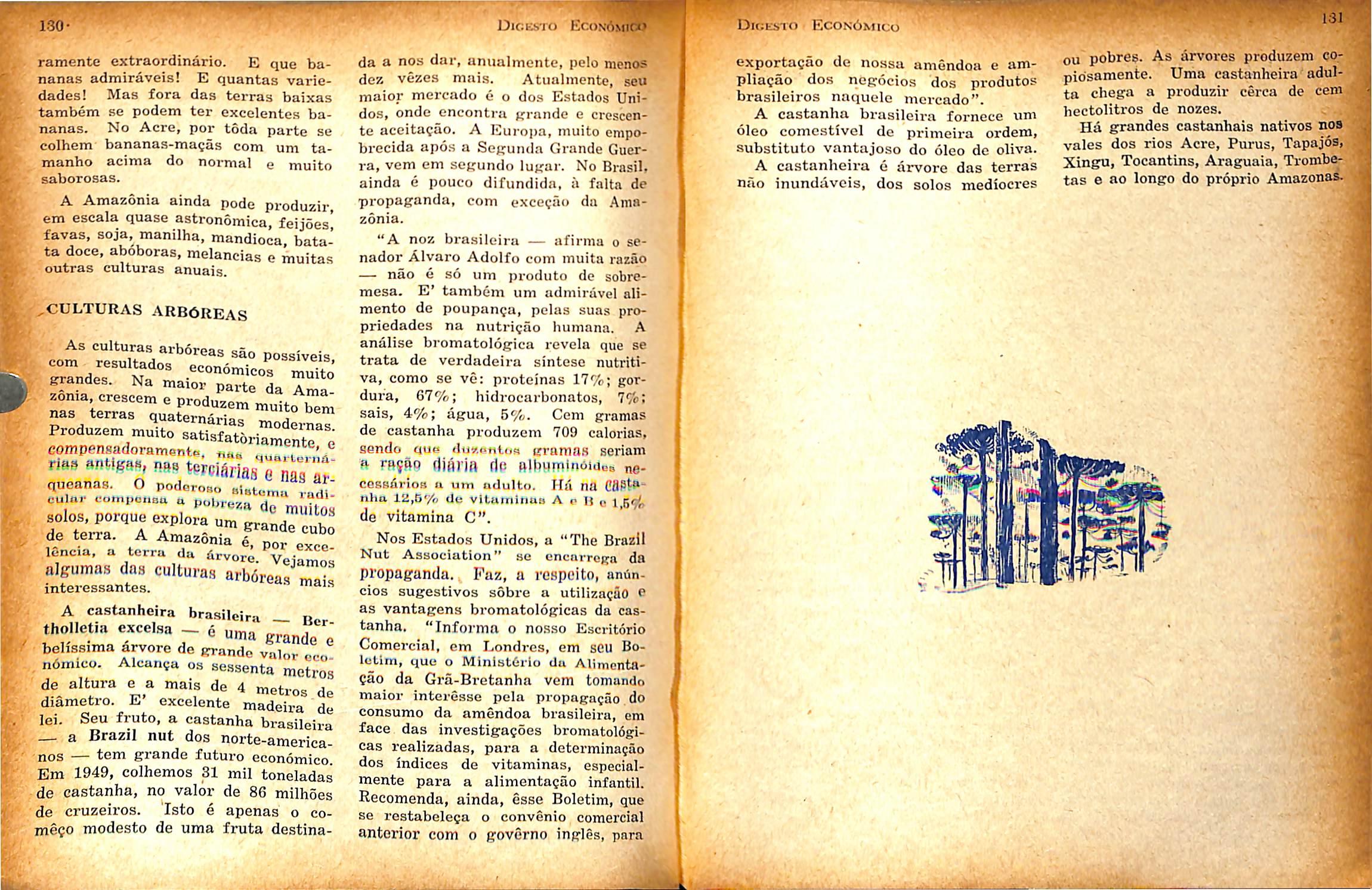
pobres. As árvores produzem copiòsamente. Uma castanheira adul ta chega a produzir cerca de cem hectolitros de nozes.
Há grandes castanhais nativos nos vales dos rios Acre, Purus, Tapajós, Xingu, Tocantins, Araguaia, Trombetas e ao longo do próprio Amazonas.
131 IDuitsio Econômico
‘k f
SAO PAULO NA CONSTITUINTE DE 1891
FRANCISCO GLICERIO
OttO pRAZEIUiS
ÜBANCisco Glicerio foi classíficado
. * como “General do Congresso’', comandante de vinte e uma brigadas ; que eram as representações dos Esta^ dos e do Distrito Federal. Êsse alto posto não foi obtido em virtude de promoções, porque Glicerio penetr preparatória da , Gamara dos Deputados, na Constituin te,ja como alto comandante, como íre. neral de Exército, como hoje se diz Demonstremos
ou na primeira sessão t o final da afirmati
iva que compõe o período acima
de tão decisiva matéria. Quem ela borou êsse Regimento Provisório? Campos Sales, então Ministro da Justiça? Rui Barbo.sa?
em
O Governo Provisóri determinando, provisória,
da Repúbli. constituição a eleição do Con
o ca. em o o Se esta congressises. aos
Seria natural que fôsse o primeiro, razão da pasta que geria, ou o segundo, como conhecedor de dii*eito parlamentar, o autor, cumbôncia de apresentar o trabalho ao Congresso Constituinte, mostrando a necessidade de uma lei interna, e de defender depois os seus disposi tivos contra os ataques esperados e certos dos Constituintes.
gresso Constituinte, com Senadores e De putados, apurou, desde logo, que na necessário uma lei interna, um regimento provisório, que regulas^ começo dos trabalhos, inclusive reconhecimento de poder ‘ tarefa fôsse entregue tas, na sua quase totalidad nhecimento de assuntos res, enorme seria a balbúrdia e ner der-se-ia um tempo precioso, quandõ havia urgência em dotar o país de unia lei básica e de proceder, o mais depressa possível, à eleição do Pre sidente da República, já de acôrdõ com dispositivos constitucionais.
e sem coparlamenta-
que um
Quem quer que fôsse teria, forçosamente, a inapresentação foi Glicerio, da Agricultura. sua co¬
Ora, o incumbido de tão perigosa Ministro
Na primeira sessão preparatória, subindo ao estrado da ii^esa, que ainda estava vazia de Pre- 1 sidente e Secretários, Glicerio agitou um folheto, declarando ser o regi- ' mento interno em projeto, que o Go verno julgava necessário e que seria submetido a uma oportuna discussão. Fêz mais, porém, do que apresentar, porque declarou o regimento desde logo em vigência, pois, fundado nêle, aclamou (veja-se bem, não propôs, aclamou, nomeou desde logo), para Presidente, o representante de Minas ' Gerais, Sr. Antonio Gonçalves Chaves. ' Como se vê, Glicerio iniciou a vida parlamentar como General, mo comandante de Exército...
Êsse papel (já se vê, sem coman do...) foi desempenhado na segunda Con.stituinte Republicana, em 1933, por um cabo, ou seja um militar de

V '
I
\
I
Tornava-se imperativa a necessida de de um regimento provisório podería ser, depois, modificado pela Constituinte e esta teria no traba lho feito pelo Governo uma base, guia para as discussões e votações íl.
Êsse solda- bem modesta categoria, do foi o autor das presentes linhas.
Exercia êle, então, o cargo de seMi- cretário parlamentar junto ao Antunes Ma- nistro da Justiça, sr. ciei, o grande campeão cionalização do país. cretário-geral da Comissão Constitu cional presidida pelo sr. Afrânio de Mello Franco e tinha, como secretário e colaborador da lei relativa classistas, sido o auxi liar do Ministro Sal¬

da constituFôra 0 seeleições as no reco- gado Filho, nhecimento de poded o s Deputados Além disres Classistas.
,autor do método da das eleições so apuraçao pelos sufrágios dire tos, havia colaborado dessas apuraçao eleições e sido escolhi● a tur-
na do para compor ●esidida pelo Mi¬ ma pi . nistro Ataúlfo de PaiPresidente do TriEleitoral, foi vogal o
va, bunal em deque sembargador Sampaio Viana.
Em virtude de tudo isto, e ainda na qua lidade de secretáiiogeral da Presidência da Constituinte, recehera do dr. Antunes Maciel a in cumbência de organizar um regimenAssembléia, trabalho que to para foi depois revisto, na sua presença, pelo dr. Antunes Maciel e Agenor mestre querido em Claro está
seu que o
a de Roure, assuntos parlamentares, modesto cabo não poderia de-
sempenhar tão grande tarefa do do por que fora desempenhada pelo _\ General Glicerio, e todo o seu tra- _^ balho, num papel parecido com o de . estafeta, foi feito nos bastidores. A _j Constituinte aprovou o projeto de regimento, fazendo apenas duas _i emendas, uma das quais foi poste-_^ riormente abandonada, voltando-se ao dispositivo que eu havia proposto. Devo ainda acrescen- _J tar que fiz parte da comissão da Consti- _i tuinte incumbida de _í dar o seu parecer so bre o projeto regi-' ● mental.
Em tudo isto que venho de escrever há, não resta dúvida, do ses de vaidade e de orgulho por ter desem penhado tão altas ta refas, acima, muito _^ acima, reconheço, dos ● meus méritos; mas também há o intuito _i de mostrar-me conhe- _j cedor ou bom avalia dor das dificuldades _' de Glicerio para al- _í cançar a vitória e ini- _" ciar o comando do . Parlamento Brasilei ro...
mo- í 1 . _\ 1
Começando o seu mandato como mem- '' bro influente do Congresso Consti- ' tuinte, Glicerio desde logo veiâficou "I que seria mais útil tomar parte nos_^ debates éom explicações incisivas, dadas em apartes ou rápidos discur- _j sos pela ordem, do que com longas . orações doutrinárias ou relativas a fatos estranhos à função constituin- ■
133 DioESTo Econômico S
Os discursos são esquecidos e um aparte incisivo perdura sempre...
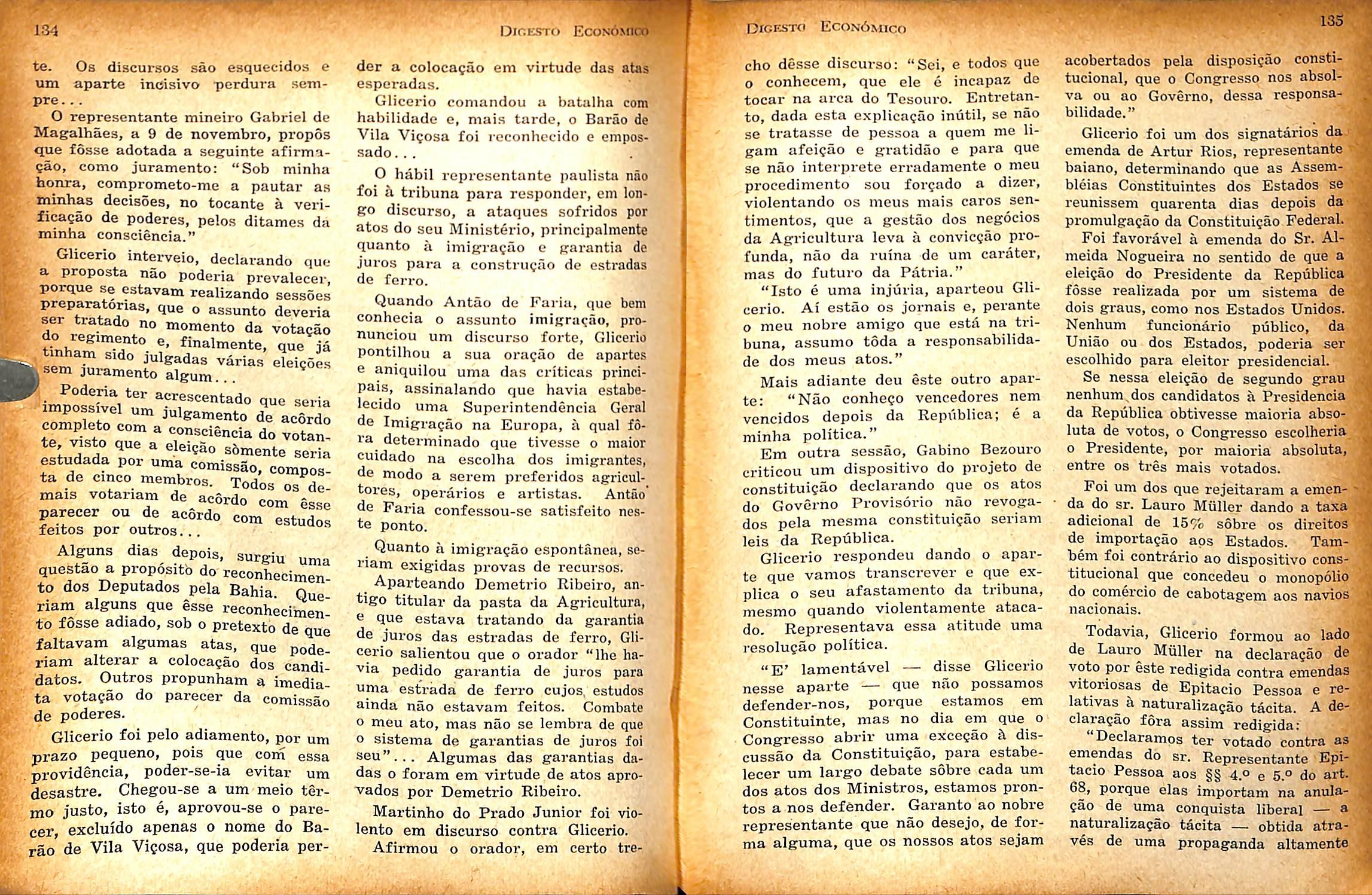
te. Sob minha
O representante mineiro Gabriel de Magalhães, a 9 de novembro, propôs que fosse adotada a seguinte afirma ção, como juramento: honra, comprometo-me a pautar as minhas decisões, no tocante à veri ficação de poderes, pelos ditames da minha consciência.”
Glicerio interveio, declarando . que a proposta nao poderia prevalecer, porque se estavam realizando sessões r ° assunto deveria f ser tratado no momento da votação it e. finalmente, que já ^ÍemT Juleadas várias eleiçõL sem juramento algum
Poderia ter acrescentado que seria imposswel um julgamento de aeôrdo . ,. “'"Pifo oom a consciência do voC te visto que a eleição sãmente sena estudada por uma comissão, compor ta de emeo membros. Todos os de mais votariam de aeôrdo com êsse parecer ou de aeôrdo feitos por outros... com estudos j
der a colocação em virtude das atas esperadas.
Glicerio comandou a batalha com habilidade e, mais tardo, o Barão de Vila Viçosa foi roconliecido e empos sado...
0 hábil representante paulista não foi ã tribuna para responder, em lonKo discurso, a ataques sofridos por atos do seu Ministério, principalmentc quanto à imigração e írarantia de juros para a construção do estradas de ferro.
Quando Antão de Faria, <pie bem conhecia o assunto imigração, pro nunciou um discurso forte, Glicerio pontilhou a sua oração de apartes e aniquilou uma das críticas princi pais, assinalando que havia estabe lecido uma Superintendência Geral de Imigração na Europa, à qual fo ra determinado que tivesse o maior cuidado na escolha dos imigrantes, de modo a serem preferidos agricul tores, operários e artistas. Antão' de Paria confessou-se satisfeito nes te ponto.
Quanto à imigração espontânea, se riam exigidas provas do recursos.
Alguns dias depois, r . ... , ®urgiu uma questão a proposito do reconhecimen to dos Deputados pela Bahia. Que riam alguns que êsse reconhecimen to fôsse adiado, sob o pretexto de faltavam algumas atas, riam alterar a colocação dos
V/ ^ ^ - candi¬ datos. Outros propunham a imedia ta votação do pai^ecer da de poderes. comissão
que que pode-
Glicerio foi pelo adiamento, por um prazo pequeno, pois que com providência, poder-se-ia evitar Chegou-se a um meio têr-
mo
essa um desastre, justo, isto é, aprovou-se o pare cer, excluído apenas o nome do Ba rão de Vila Viçosa, que poderia per-
Aparteando Demetrio Ribeiro, an tigo titular da pasta da Agricultura, c que estava tratando da garantia de juros das estradas dc ferro, Gli cerio salientou que o oi-ador “lhe havia pedido garantia do juros para uma estrada de ferro cujos, estudos ainda não estavam feitos. Combate o meu ato, mas não se lembra de que o sistema de garantias de juros foi seu”... Algumas das garantias da das o foram em virtude de atos apro vados por Demetrio Ribeiro.
Martinho do Prado Junior foi vio lento em discurso contra Glicerio. Afirmou o orador, em certo tre-
Djci-:í>Tt) Fconómic^ 134
Sei, e todos que cho dêsse discurso: conhecem, que ele é incapaz de tocar na arca do Tesouro. Entretan to, dada esta explicação inútil, se não se tratasse de pessoa a quem me li gam afeição o gratidão e para que se não interprete erradaniente o meu procedimento sou forçado a dizer, violentando os meus mais caros sen timentos, que a gestão dos negócios da Agricultura leva à convicção pro funda, não da ruína do um caráter, mas do futuro da Pátria.”
o ceno.
“Isto é uma injúria, aparteou GliAí estão os jornais e, perante
acobertados pela disposição consti tucional, que 0 Congresso nos absol va ou ao Governo, dessa responsa bilidade.”
Glicerio foÍ um dos signatários da emenda de Artur Rios, representante baiano, determinando que as Assem bléias Constituintes dos Estados se reunissem quarenta dias depois da promulgação da Constituição Federal.
meu nobre amigo que está na tri buna, assumo tôda a responsabilida de dos meus atos.”
o Mais adiante deu êste outro aparNão conheço vencedores nem vencidos depois da República; é a minha política.”
Foi favorável ã emenda do Sr. Al meida Nogueira no sentido de que a eleição do Presidente da República fôsse realizada por um sistema de dois graus, como nos Estados Unidos. Nenhum funcionário público, da União ou dos Estados, poderia ser escolhido para eleitor presidencial.
te: plica o seu mesmo do.
Em outra sessão, Gabino Bezouro criticou um dispositivo do projeto de constituição declarando que os atos do Governo Provisório não revoga dos pela mesma constituição seriam leis da República.
Glicerio respondeu dando o apar te que vamos transcrever e que exI afastamento da tribuna, quando violentamente atacaRepresentava essa atitude uma resolução política.
“E’ lamentável — disse Glicerio nesse aparte — que não possamos defender-nos, Constituinte, mas no dia em que o Congresso abrir uma exceção à disda Constituição, para estabe-
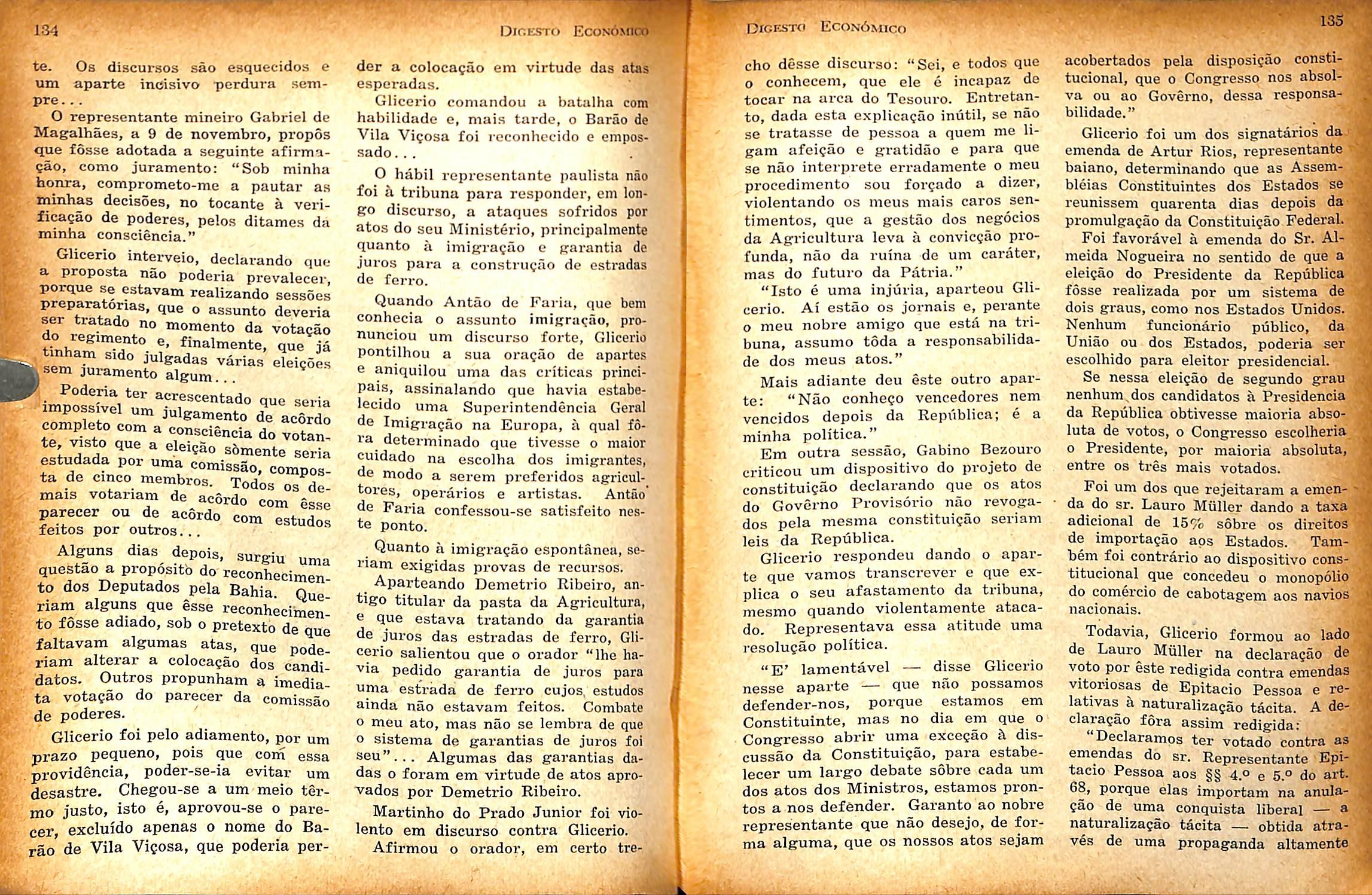
porque estamos em cussao lecer um lai’go debate sobre cada um dos atos dos Ministros, estamos prondefônder. Garanto ao nobre tos a nos representante que não desejo, de foralguma, que os nossos atos sejam ma
Se nessa eleição de segundo grau nenhum,dos candidatos à Presidência da República obtivesse maioiúa abso luta de votos, o Congresso escolheria o Presidente, por maioria absoluta, entre os três mais votados.
Foi um dos que rejeitaram a emen da do sr. Lauro Müller dando a taxa adicional de 15% sobre os direitos de importação aos Estados. Tam bém foi contrário ao dispositivo cons titucional que concedeu o monopólio do comércio de cabotagem aos navios nacionais.
Todavia, Glicerio formou ao lado de Lauro Müller na declaração de voto por êste redigida contra emendas vitoriosas de Epitacio Pessoa e re lativas à naturalização tácita. A de claração fôra assim redigida: Declaramos ter votado contra as emendas do sr. Representante Epi tacio Pessoa aos §§ 4 o q 50 art. 68, porque elas importam ção de uma conquista liberal — » naturalização tácita vés de uma propaganda altamente
anula- na obtida atra-
135 i;?ICKST<» ECOXÓMICO
conveniente aos interesses nacionais.
Elas importam na destruição de uma das mais gloriosas e liberais refor mas instituídas após o advento da República, dificultam o povoamento do solo nacional e tornam estrangei ros cidadãos que já são, por lei, bra sileiros e, como tal, votaram na elei ção que compôs éste Congress'-.*'
Aliás, o dispositivo foi depois torioso. vi-
Votou para que perdesse o cargo público quem aceitasse a nomeação para Ministro.
GUcerio foi o quarto signatário da moçao que classifiquei, nos meus estudos sobre a Constituinte de 1891, de moção do gato morto...
seta envenenada dirigida a Deodoro e, no comêço, chama a Benjamin Constant de fundador da Kepública, para contrariar Deodoro, que fora, de fato c de direito, o fundador, o ho mem cuja ação decidiu da proclama ção da República no momento pre ciso.
Se a moção fósse recusada pelos amigos de Deodoro, os amigos de Benjamin Constant poderiam ficar sèriamente contrariados e negar o seu voto àquele, sufragando o nome de Prudente de Morais. Se um pouco menos de vinte Congressistas se des viassem de Deodoro, ganharia Pru dente.
Os líderes deodoristas bem com preenderam a manobra e não só aceitai^am a moção, como votaram por ela, e alguns lhe apuseram mesmo as respectivas assinaturas...
morrido mais de e a as ho-
E’ que nessa moção se usava o nome glorioso de Benjamin Constant para exasperar Deodoro, fazia-se da grande figura republicana morto”. . . um “gato . Constant tinha - um mês antes Assembléia lhe tinha rendido menagens merecidas. Qual o intuito de se apresentar no dia da eleição de Deodoro e assinado, logo no comêço, pelos seus antigos Ministros, um do cumento que assim dizia:
Teria sido Glicerio o autor do golpe?
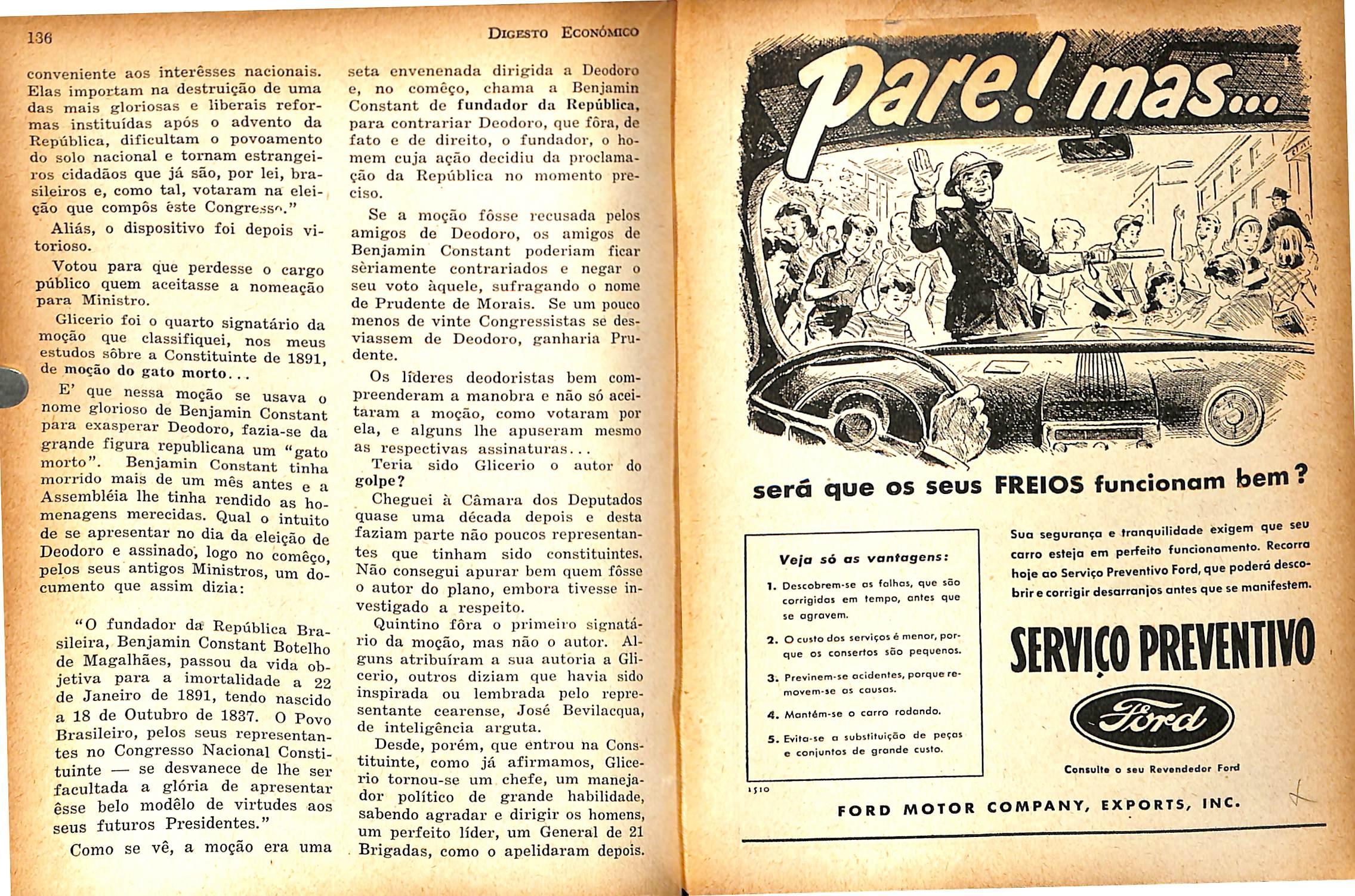
Cheguei h Câmara dos Deputados quase uma década depois e desta faziam parte não poucos representan tes que tinham sido constituintes. Não consegui apurar bem quem fôsse o autor do plano, embora tivesse in vestigado a respeito.
oba ser seus
0 fundador da República . . Bra¬ sileira, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, passou da vida jetiva para a imortalidade a 22 de Janeiro de 1891, tendo nascido 18 de Outubro de 1837. 0 Povo Brasileiro, pelos seus representan tes no Congresso Nacional Consti tuinte — se desvanece de lhe facultada a glória de apresentar esse belo modelo de virtudes aos futuros Presidentes.”
Como se ve, a moçao era uma
Quintino íôra o primeiro signatáno da moção, mas não o autor. Al guns atribuíram a sua autoria a Gli cerio, outros diziam que havia sido inspirada ou lembi^ada pelo repre sentante cearense, José Bevilacqua, de inteligência ai-guta.
Desde, porém, que entrou na Cons tituinte, como já afirmamos, Glice rio tornou-se um chefe, um manejador político de grande habilidade, sabendo agradar e dirigir os homens, um perfeito líder, um General de 21 Brigadas, como o apelidaram depois.
Dicesto Econômico 136
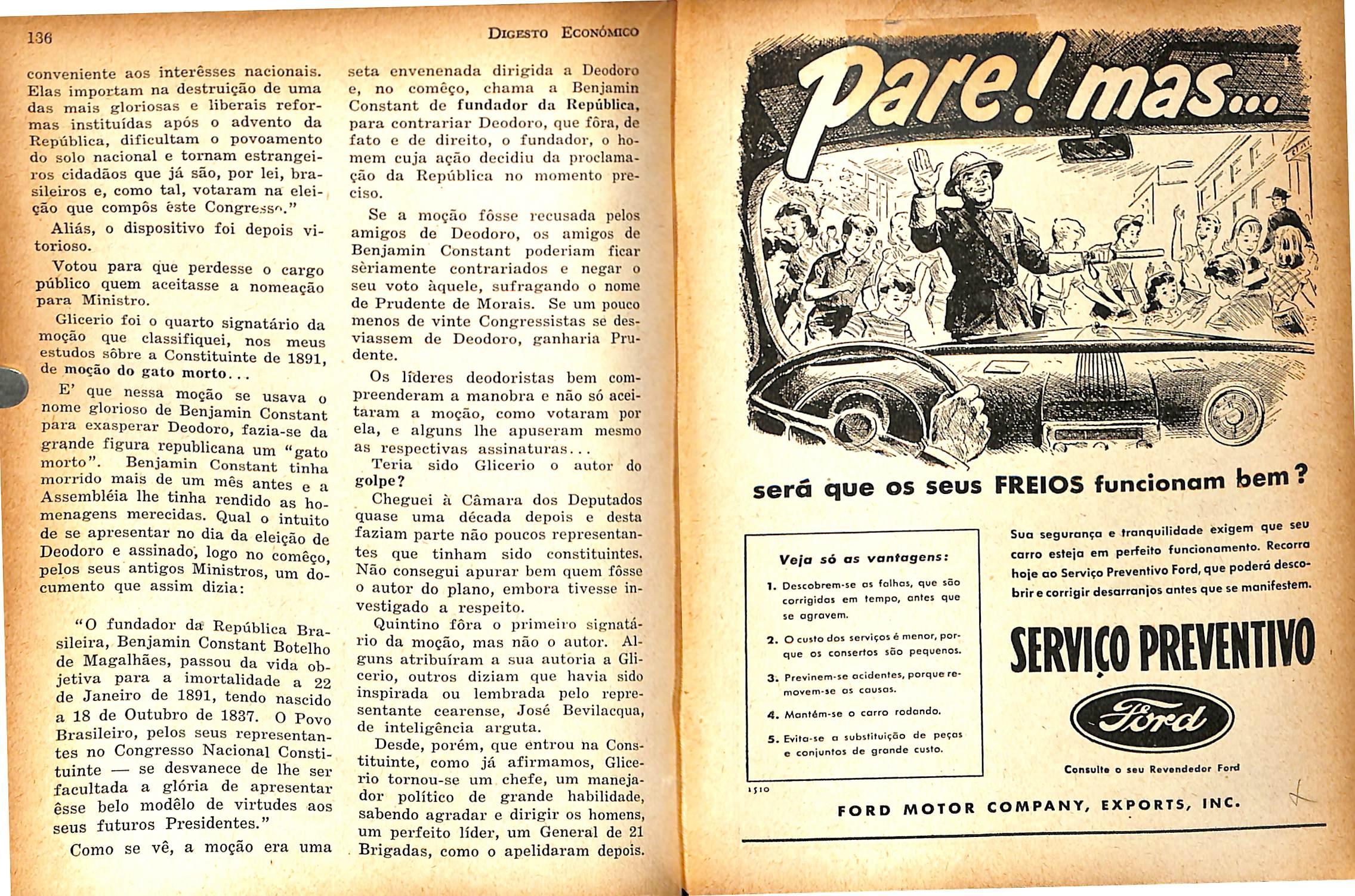
FREIOS funcionam bem. serâ que os seus ilidade exigem que seü . Recorra Sua segurança e tranq carro esteja em perfeito funcionamento Preventivo Ford,que poderó descoui hoje ao Serviço Ve/a só os vantagens: 1. Dcscobrem-se os folhos, que s5o corrigidas em tempo, ontes que se ogrovem. “2. O custo dos serviços é menor, por os consertos sõo pequenos. que brire corrigir desarranjos antes que manifestem. se I SERVKO PREVENTIVO 3. Previnem-se ocidentes, porque removem-so os causas. 4. Monfém-so o corro redondo. 5. Evito-se o substituição de peços e coniunfos de gronde custo. Consulta o seu Revendedor Ford >Sio NC. COMPANY, EXPORTS, ' FORD /V\OTOR i

Visiiem a FEIRA DE indústria TÉCNICA ALEMA H A TV JV o V (1.600 Km)de 27/4 a 6/5 52. Lá encontrarão uma linha completa (5.500 Km) das mais afamadas ferramentas e máquinas alemàs. Para informações completas escrever a: e de hotel reservas Deustche Messe-u. AusslelunfjsA.-G.,- Hannover 1952 Banco Sul Americano ●1® Brasil S. AR. alvares penteado. Endereço Telegráfic capital reservas 65 — SÀO PAULO o: SULBANCO CrS 30.000.000,00 Cr$ 26 .315.515,50 Empréslimos — Descontos — Câmbio — Depósitos — Custódia Ordens de Pagamento Cobranças. I filiais . , T ' Janeiro — Santos ~ ^eves Pauísta - Pinhal - Piracicaba — Pirapozmho — Presidente Prudente — São José do Rio Preto iatui. Urbanas; Ipiranga, Belenzinho, Vila Prudente. M L.

MALA REAL INGLEZA ROYAL MAIL UNE SERVIÇO DE PASSAGEIROS EM NAVIOS GRANDES, LUXUOSOS E RÁPIDOS. ENTRE BRASIL, EUROPA E RIO DA PRATA SERVIÇO DE CARGA ENTRE BRASIL E INGLATERRA EM CARGUEIROS MODERNOS E RÁPIDOS. AGENTES EM TODAS AS PRINCIPAIS CIDADES E PORTOS DO BRASIL \ Em São Paulo Miller & Cia. Ltda. ●i Praça da República. 76 (Ed. Maria Cristina) — Tel.: 32-5171 1
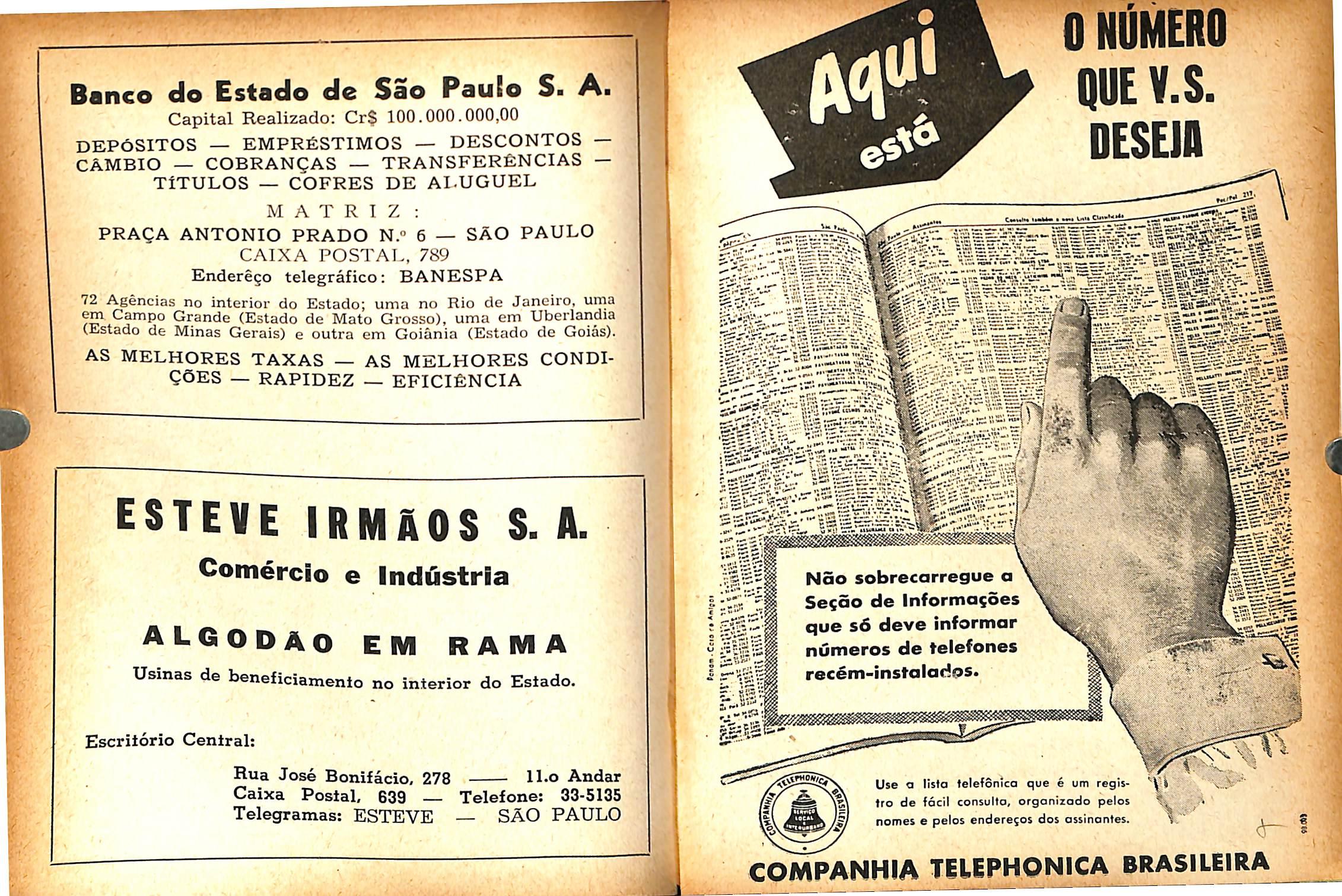
Banco do Estado de Sao PauSo S- A> Capital Realizado: Cr$ 100.000.000,00 DEPÓSITOS — EMPRÉSTIMOS CÂMBIO — COBRANÇAS — TRANSFERÊNCIAS TÍTULOS — COFRES DE AI UGUEL M ATRIZ ; PRAÇA ANTONIO PRADO N " 6 — SÃO PAULO CAIXA POSTAI., 789 Endereço telegráfico: BANESPA 72 ./^èncias no interior do Estado; uma no em Campo Grande (Estado de Mato Grosso), uma em Uberlandia (Estado de Minas Gerais) e outra em Goiânia (Estado dc Goiás). AS MELHORES TAXAS — AS MELHORES CONDI ÇÕES — RAPIDEZ — EFICIÊNCIA DESCONTOS Rio de Janeiro, uma esteve irm&os s. a. Comércio e Indústria ALGODAO EM RAMA Usinas de beneficiamenlo interior do Estado. no Escritório Central; Rua José Bonifácio. 278 Caixa Postal. 639 Telegramas: ESTEVE 11.0 Andar Telefone; 33-5135 _ SÃO PAULO
QUE V.S OESEIR
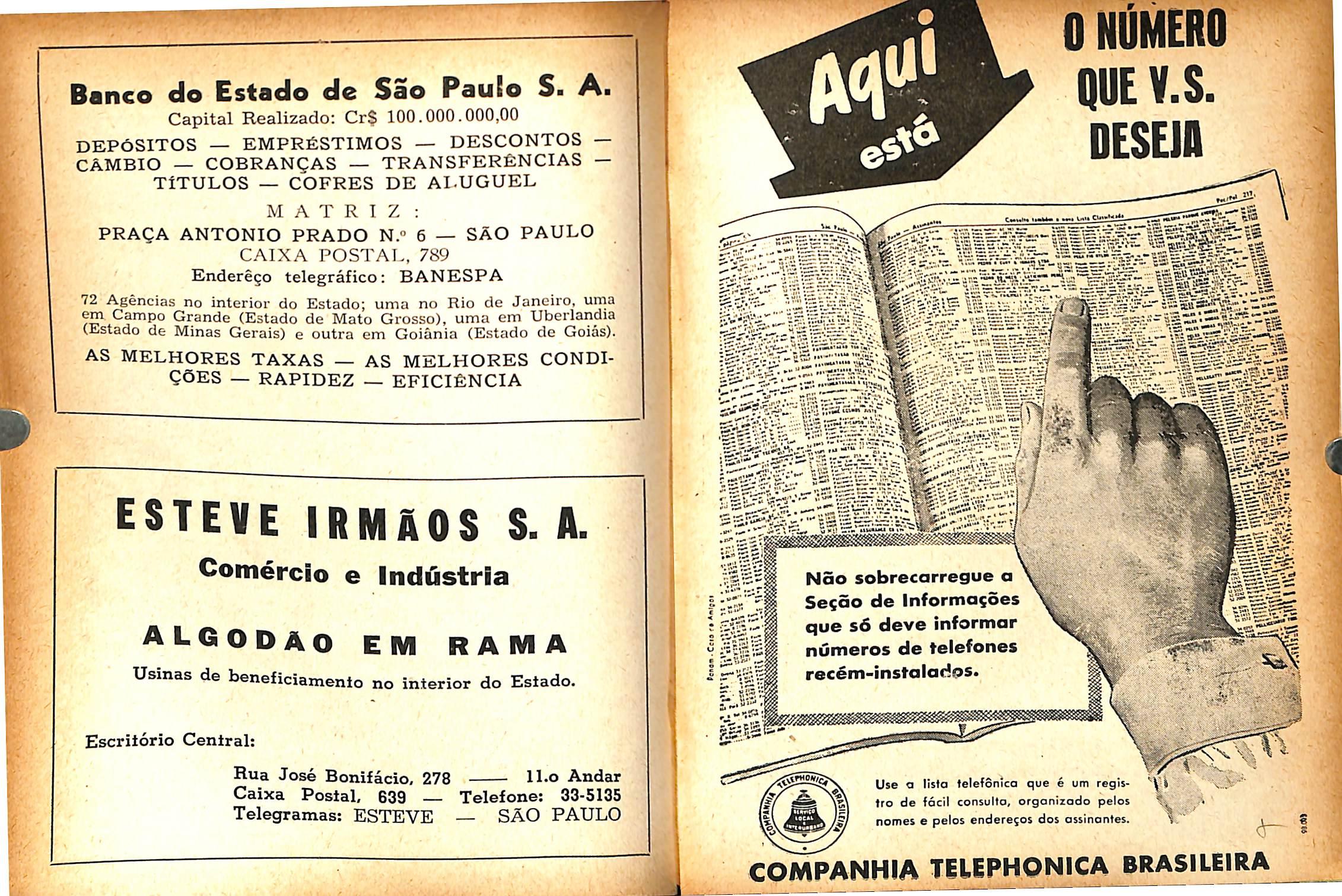
0 NUMERO
COMPANHIA mEPHONlCA BRASILEIRA
DIGESTO ECONOMICO
Preciso Tuu informações, sóbrio e objetivo rw* comentários, cômodo e elegante na apresentO’ füo, o DiCESTo Econômico, dando aos scut leitores um panorama mensal ao mundo dof r^gócios, circula numa classe de alto poder aquisitivo e elevado padrão de vUla. Por essa* razões, os anúncios inseridos no Dicesto Eco nômico são lidos, invariàvelmente, por um proryável comprador.
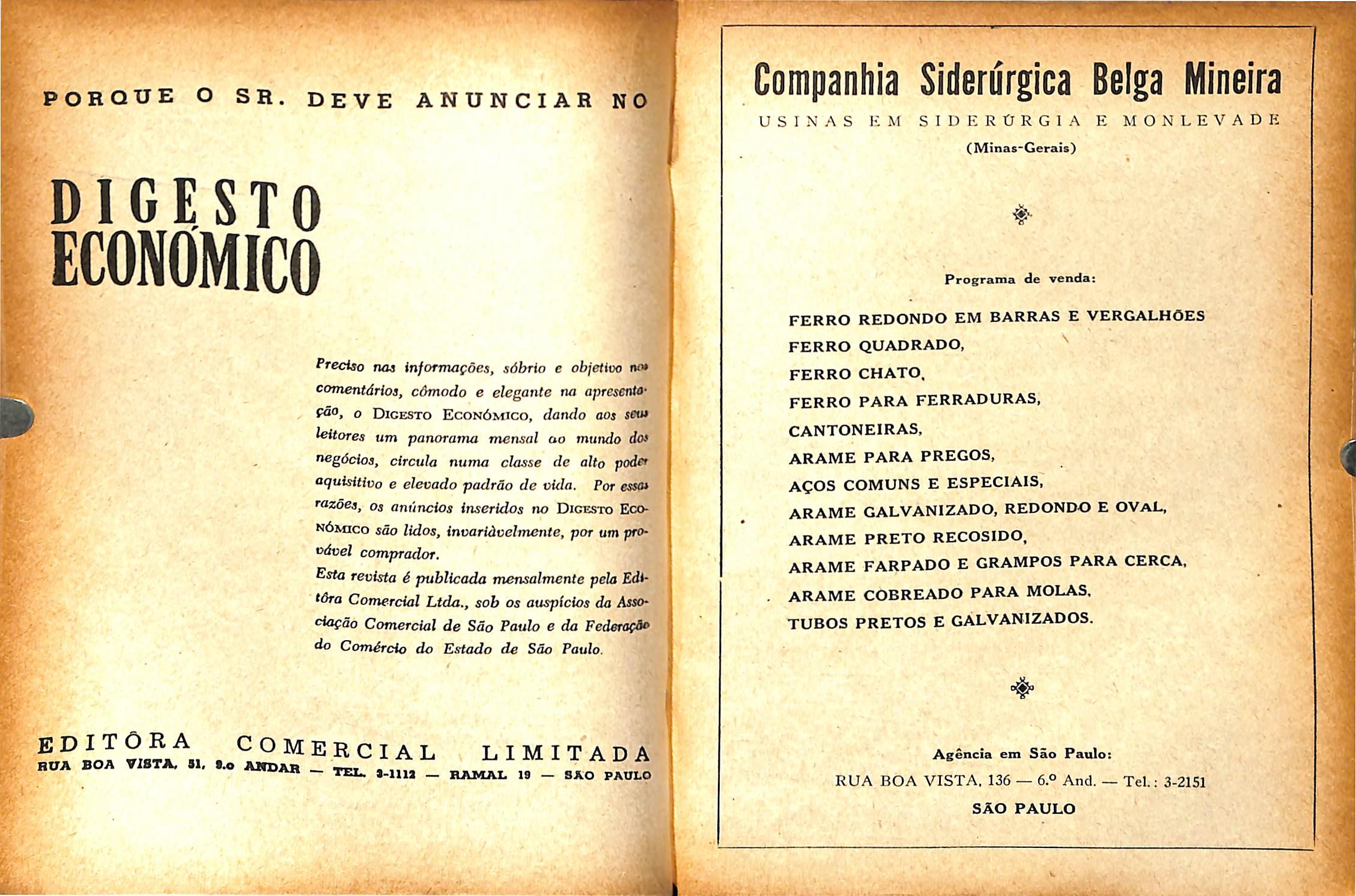
Esta revista é publicada mensalmente pela Edi‘ tôra Comercial Lida., sob os auspícios da Awo* ciação Comercial de São Paulo e da Federação do Comércio do Estado de São Paulo.
E D I T Ô R A COMERCIAL LIMITADA
BüA BOA VISTA, 81, t,e ANDAR TEL. — RAMAL 19 SXO PAULO
PORQUE O SR. DEVE ANUNCIAR NO
Companhia Siderúrgica Belga Mineira
USINAS E ^\ S I n lí R Ü R G I A E M O N L E V A D E ( Minas-Gerais) 1 I
Programa de venda:
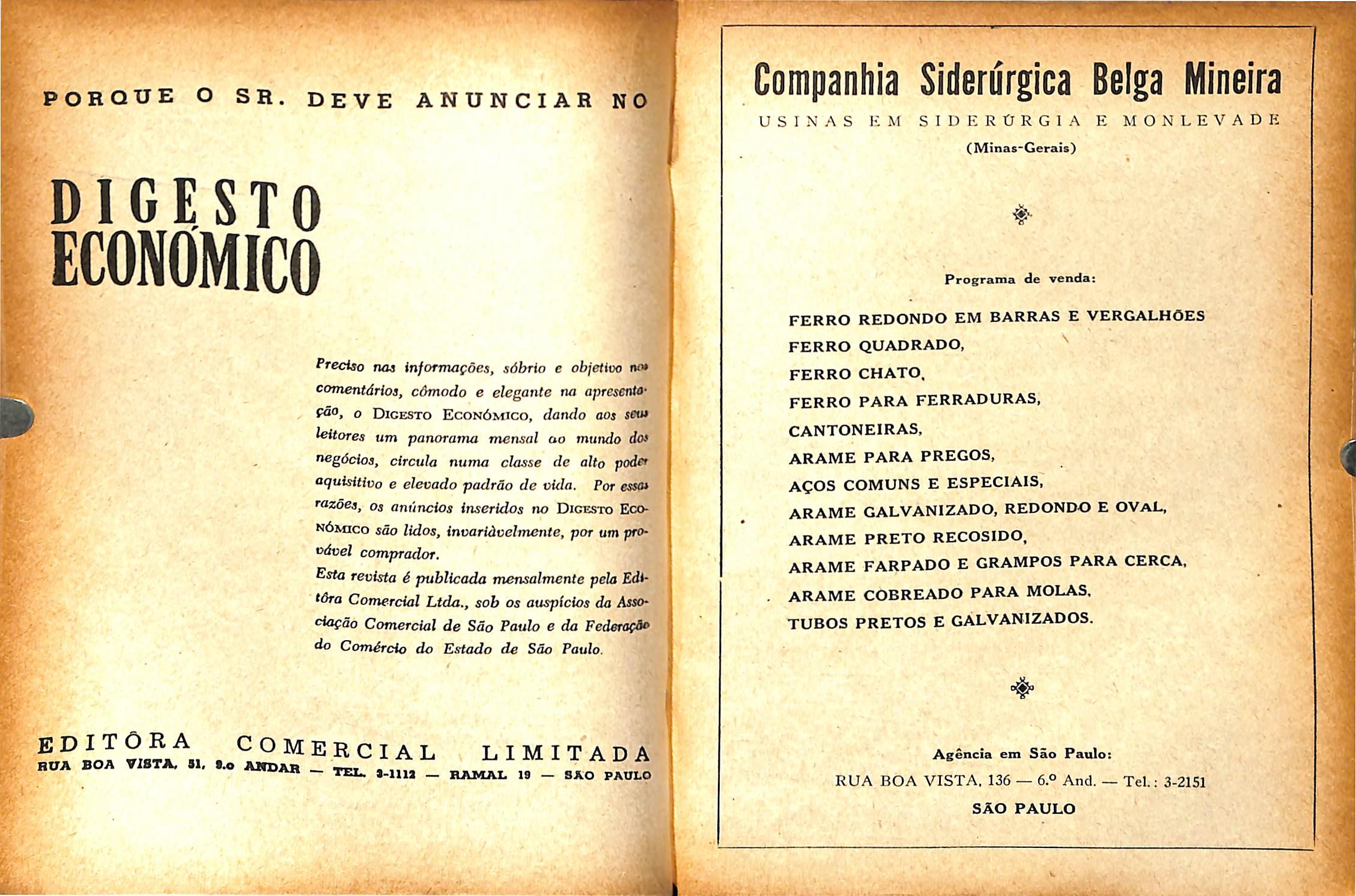
FERRO REDONDO EM BARRAS E VERGALHÕES
■
4“
●*1
FERRO QUADRADO, FERRO CHATO. FERRO PARA FERRADURAS, CANTONEIRAS, ARAME PARA PREGOS, AÇOS COMUNS E ESPECIAIS. ARAME GALVANIZADO, REDONDO E OVaL, arame preto RECOSIDO, ARAME farpado E GRAMPOS PARA CERCA, . ARAME COBREADO PARA MOLAS. TUBOS PRETOS E GALVANIZADOS. i| i
Agência em São Paulo: RUA BOA VISTA. 136 — And. — Tel.: 3-2151 SÂO PAULO
MICHELANGELO figure ontro os escultores 1 I mois famosos. Conhecedor profundo do t onotomio humono,esculpiu seus mármores com umo I técnico até hoje nõo igualado. Conto-so, que o próprio Miclielongelo, orrobotado onte o notura- * I lidode de seu célebre Moysès,exclamou ■ "Porlol ’ Co justiço, entre as cnoçôos m dèsse grande ortistn do cinzei, esso, sobre-
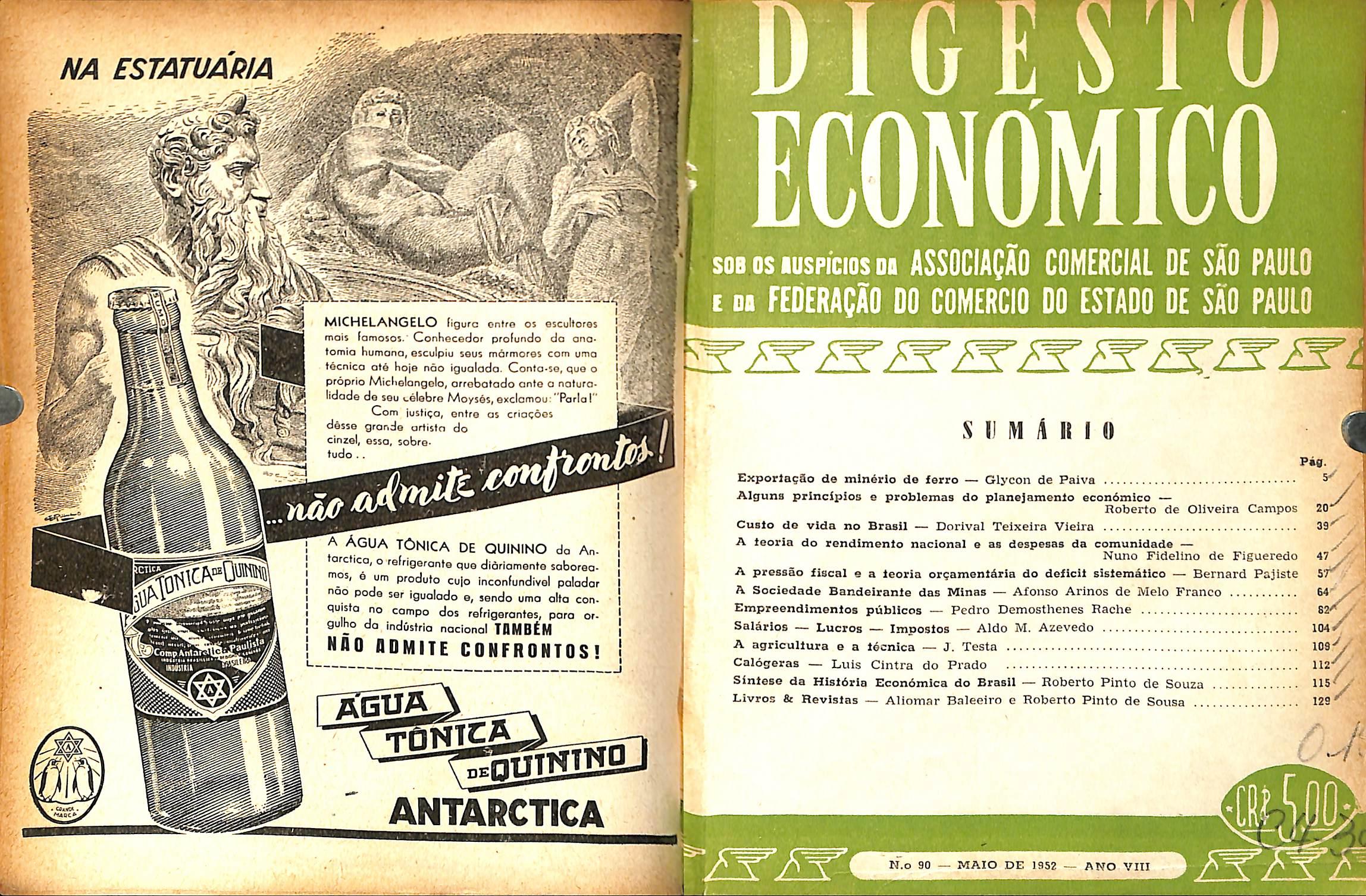
NA ESTATUAm <
I
p A AGUA TÔNICA DE QUININO da Anorctico, o refrigerante que diariamente saboreaé um produto cujo inconfundível paladar pode ser igualodo e, sendo
quisto mosI
compo dos ref no I I t I I rigerontes, , gulho da indústria nacionol TUMBÉM p ' I oro or- I I I I 1 NH0 ADMITE CONFRONTOS! I 1 I u. ,_t tONTCA ButHSIS ANTARCTICA SE Â
umo oito
con-

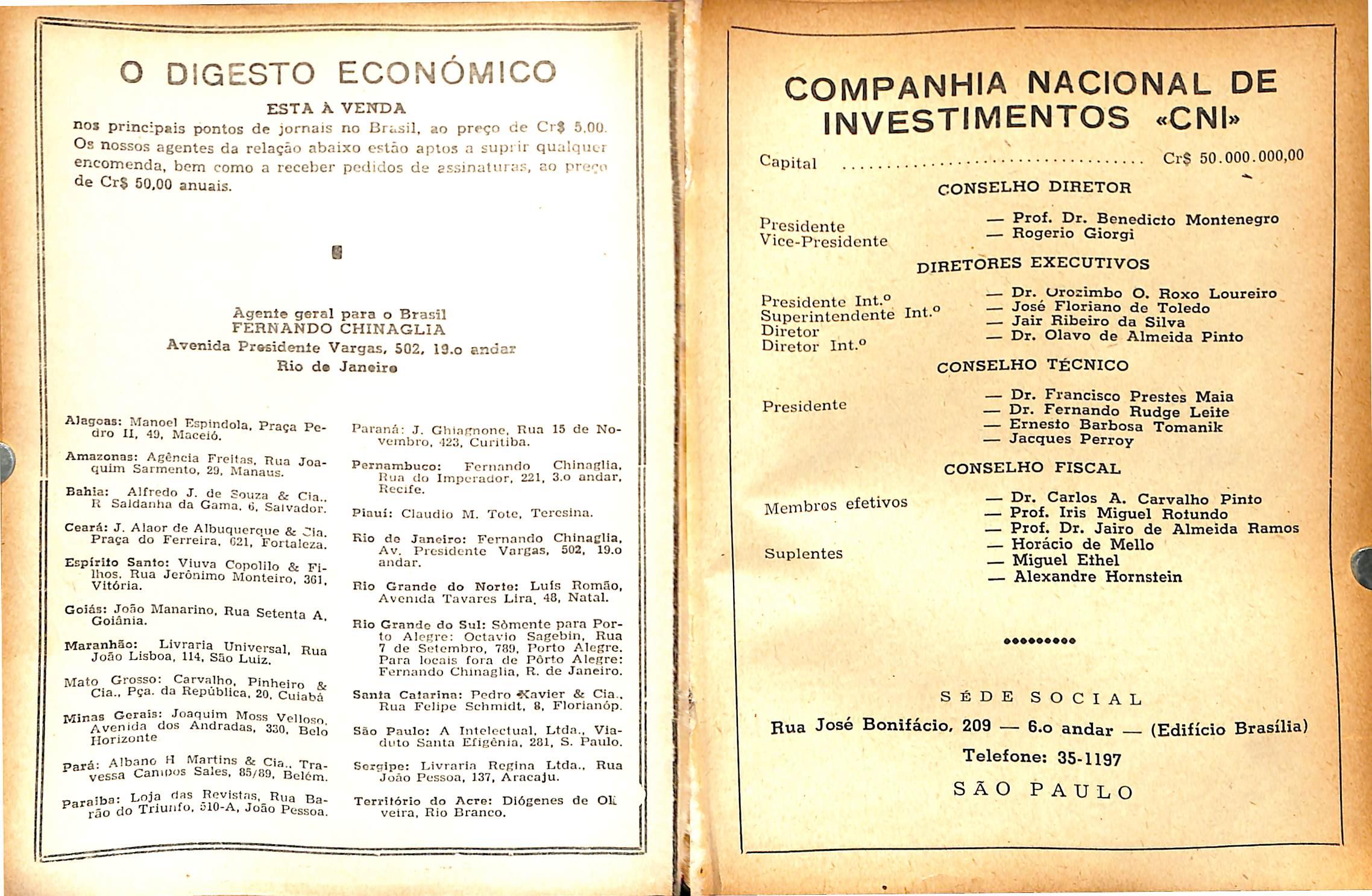
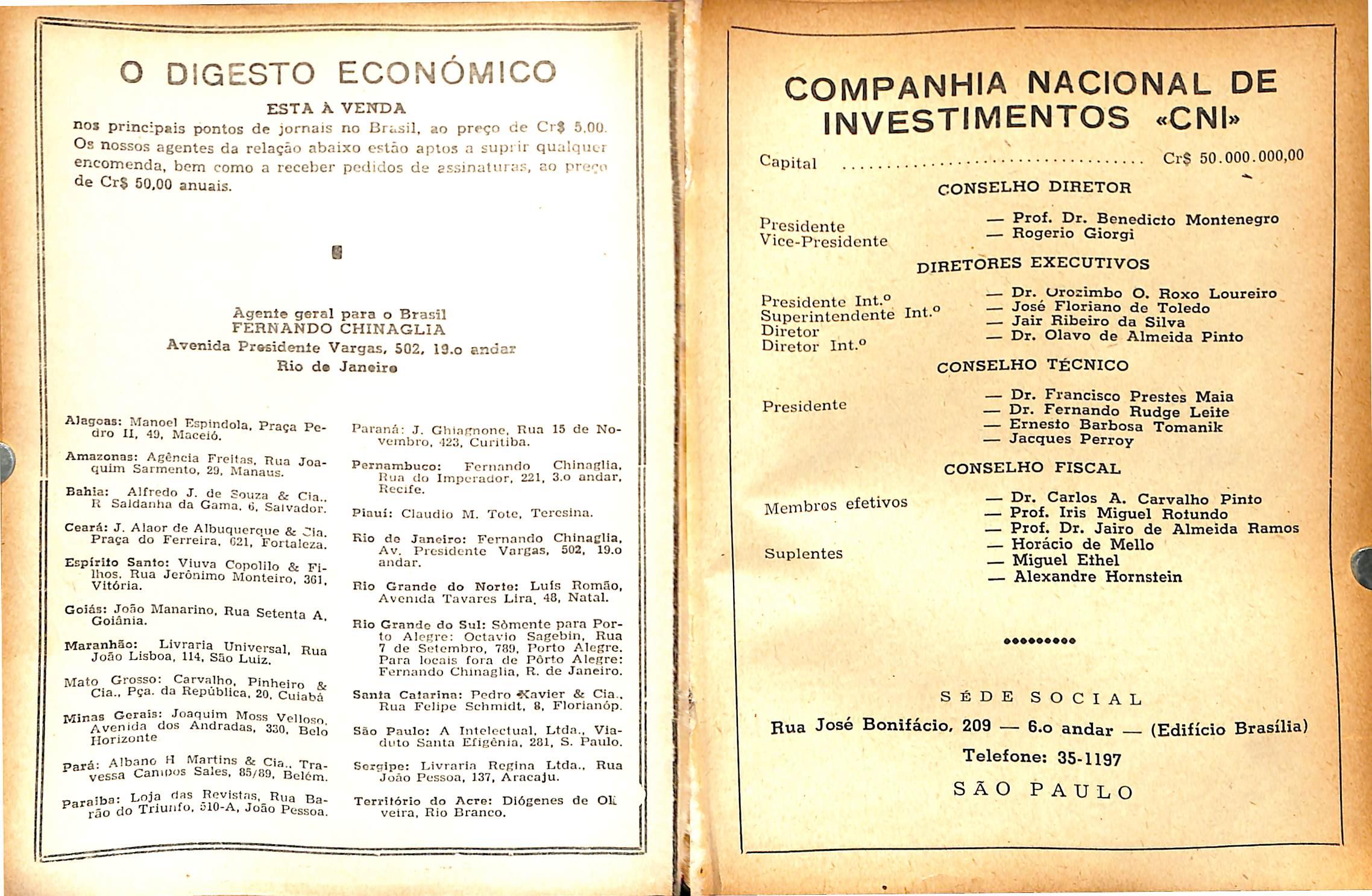
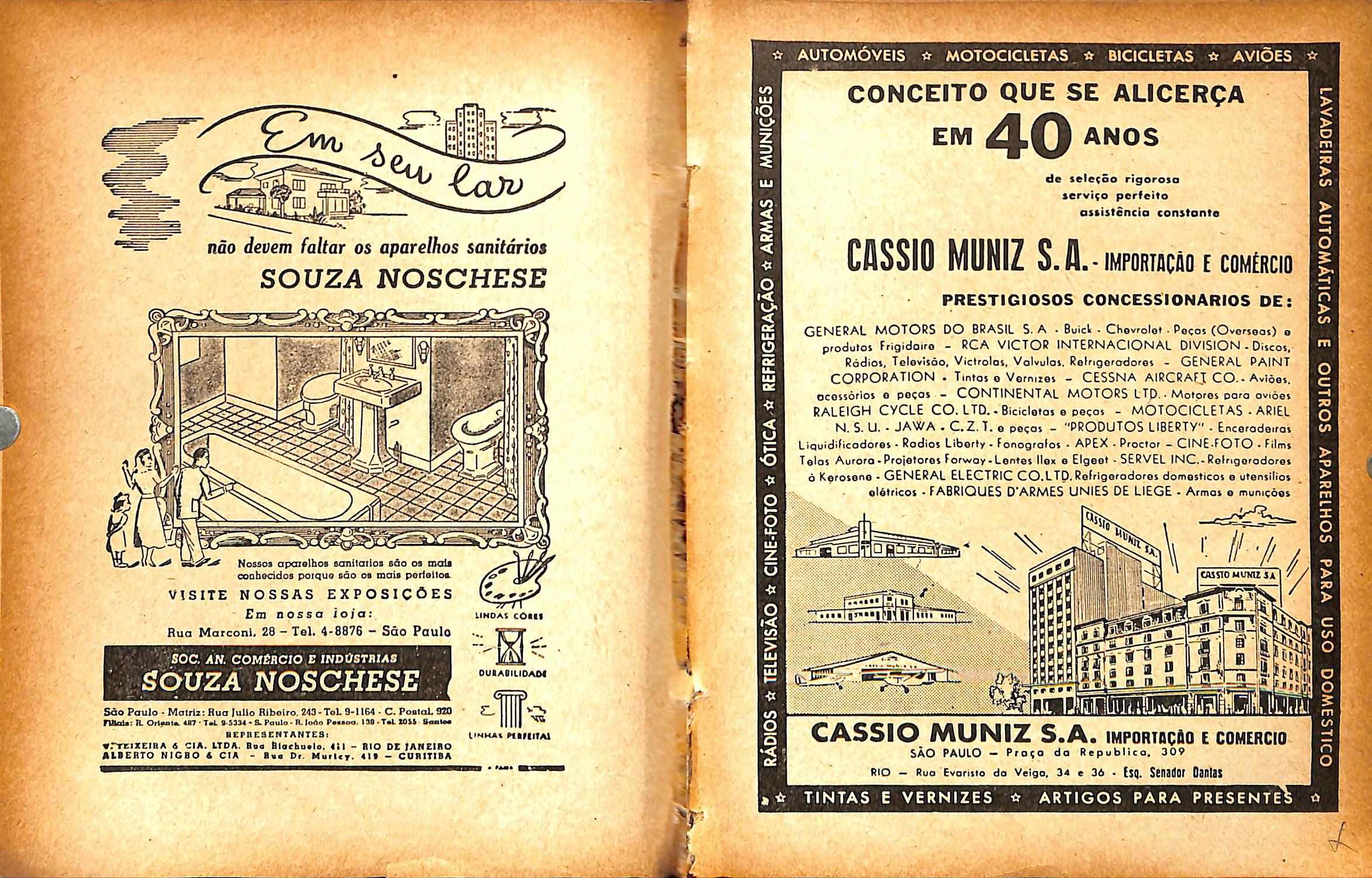
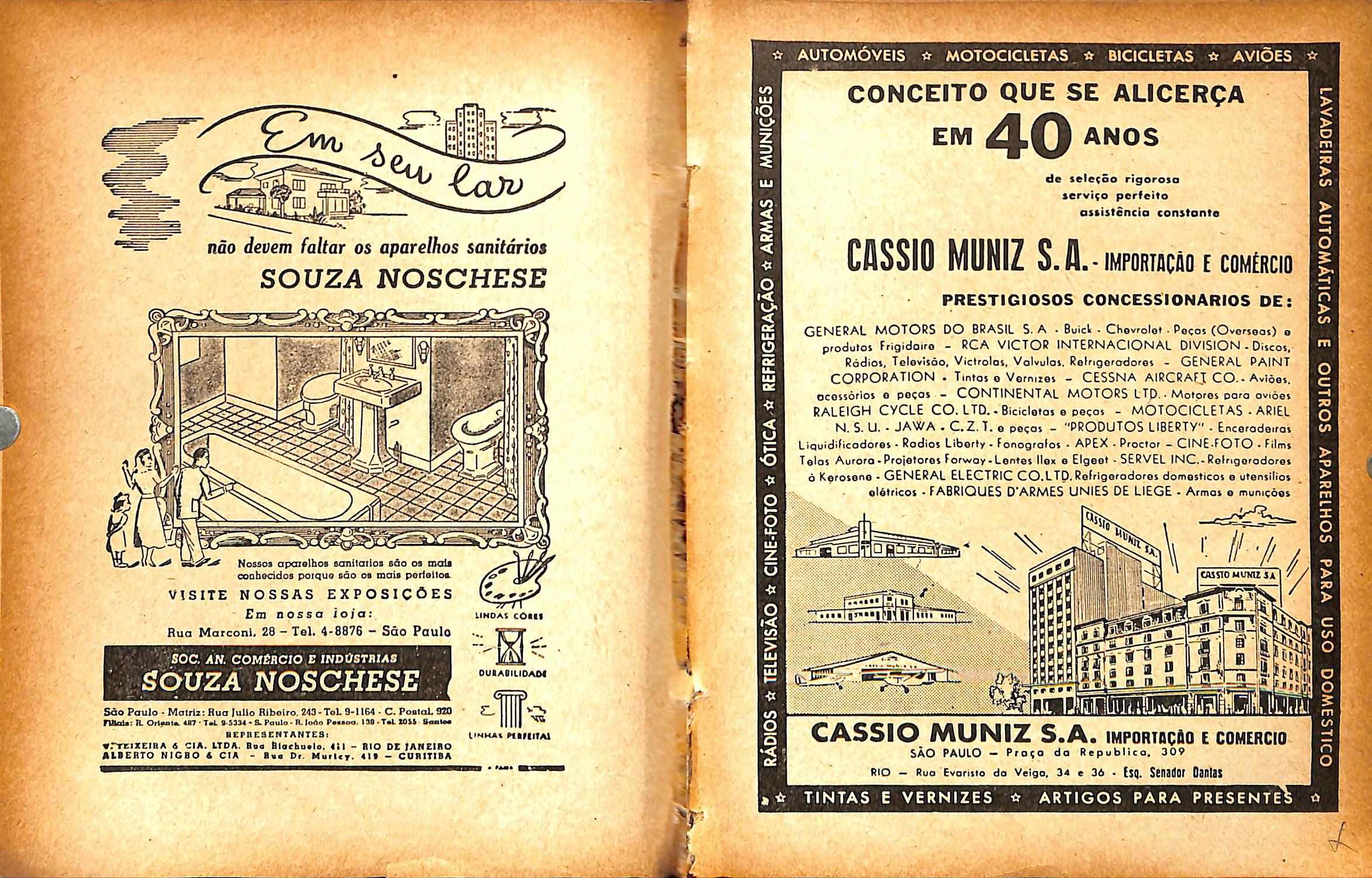



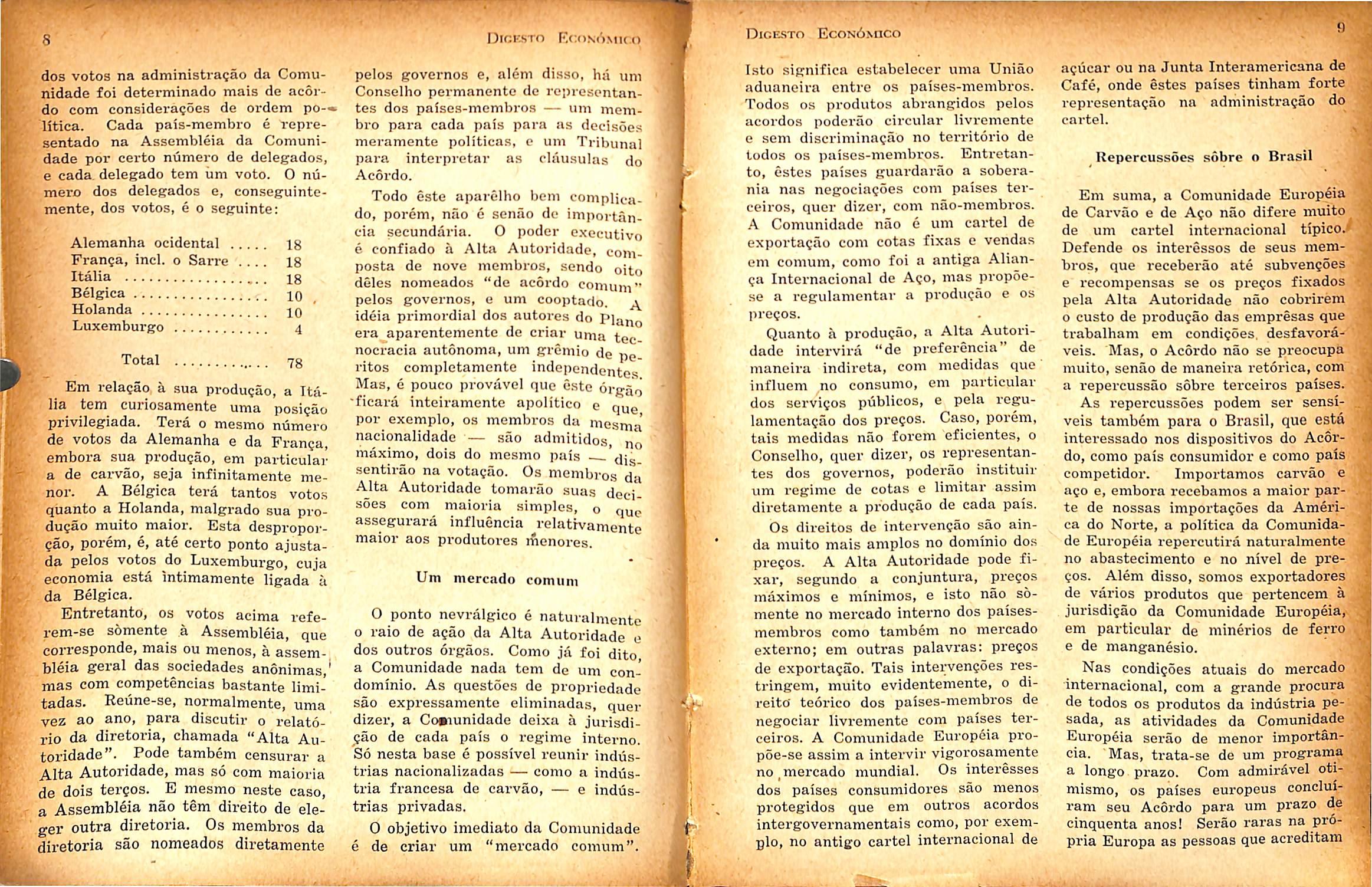

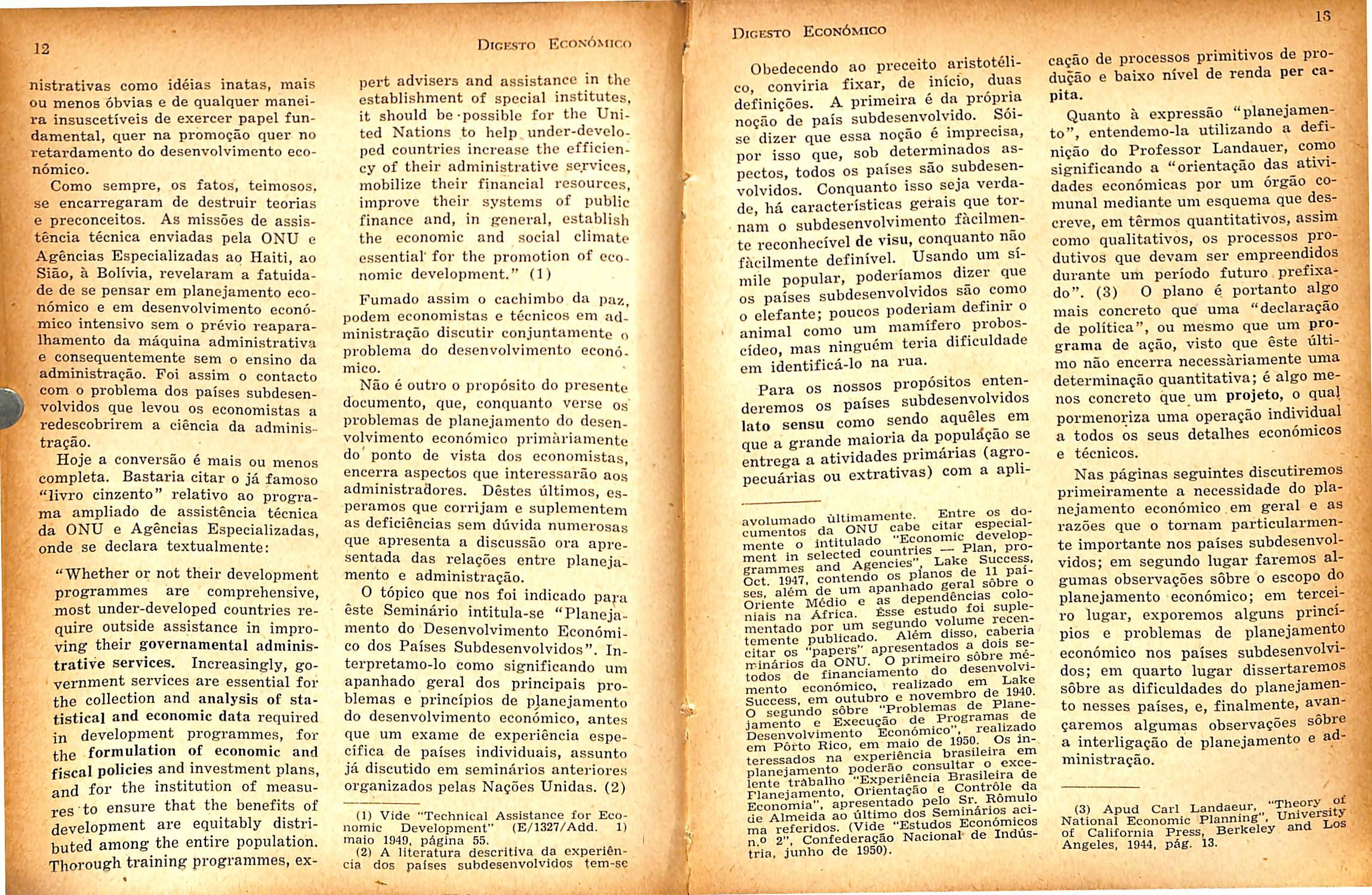








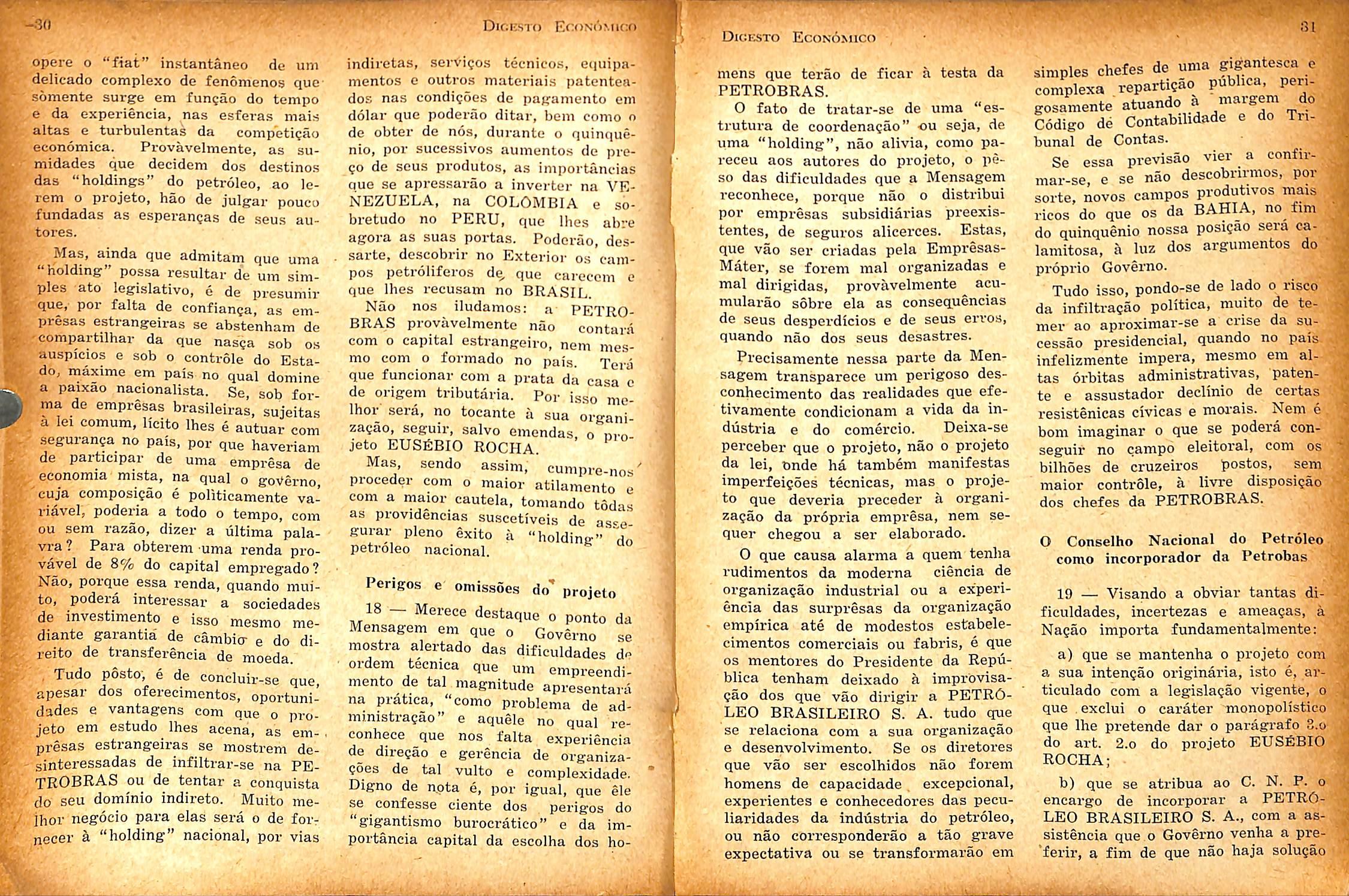
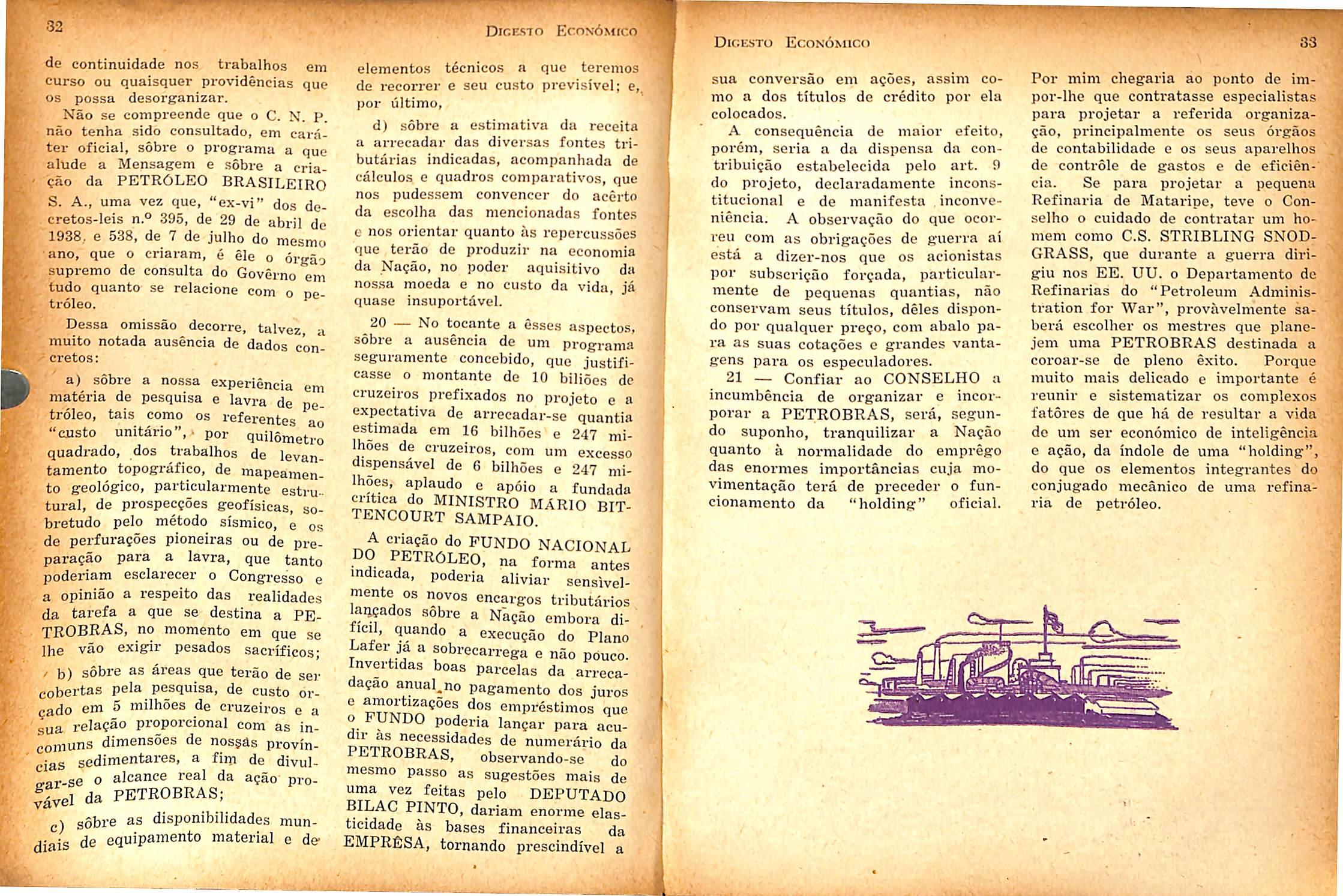


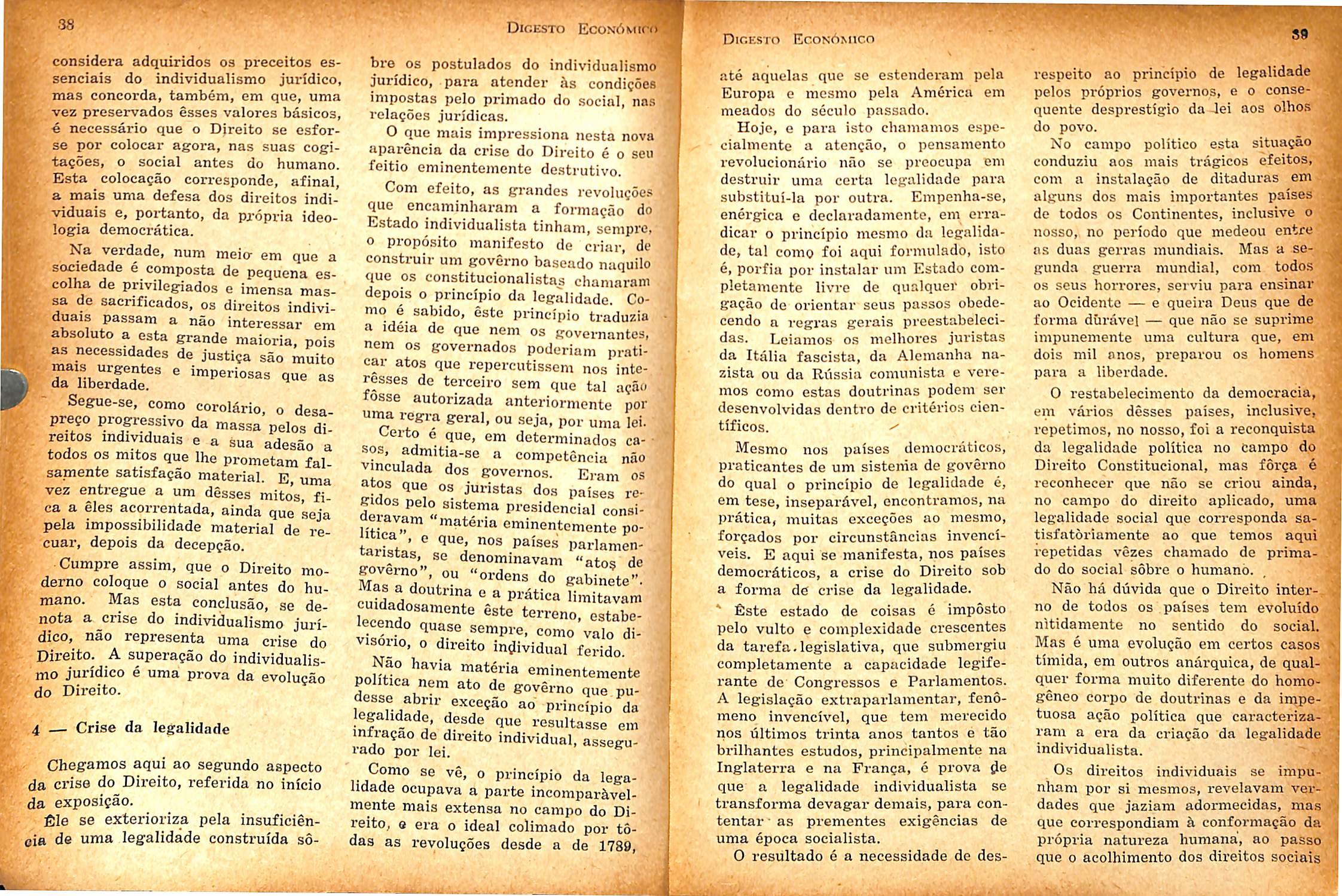

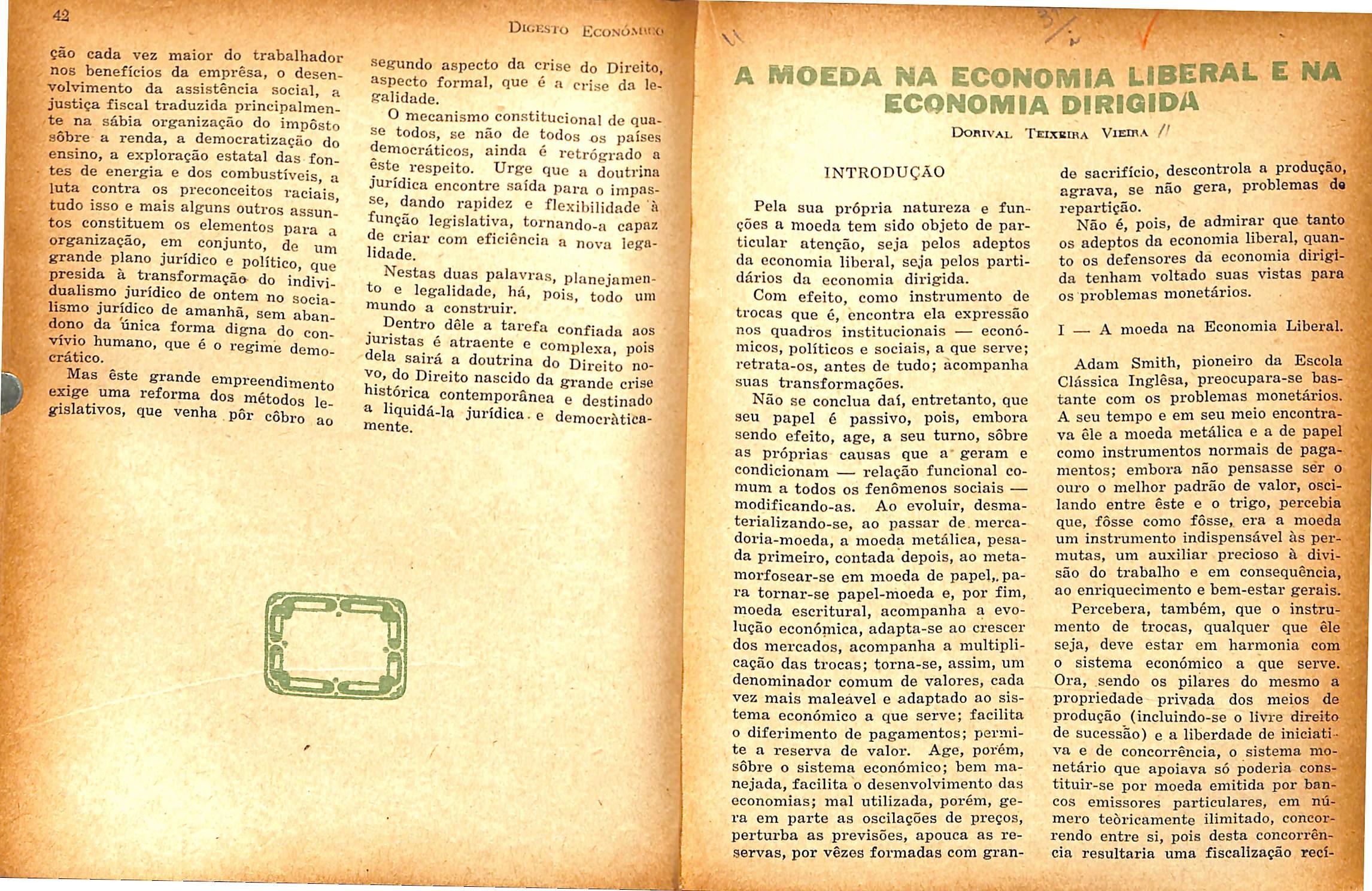

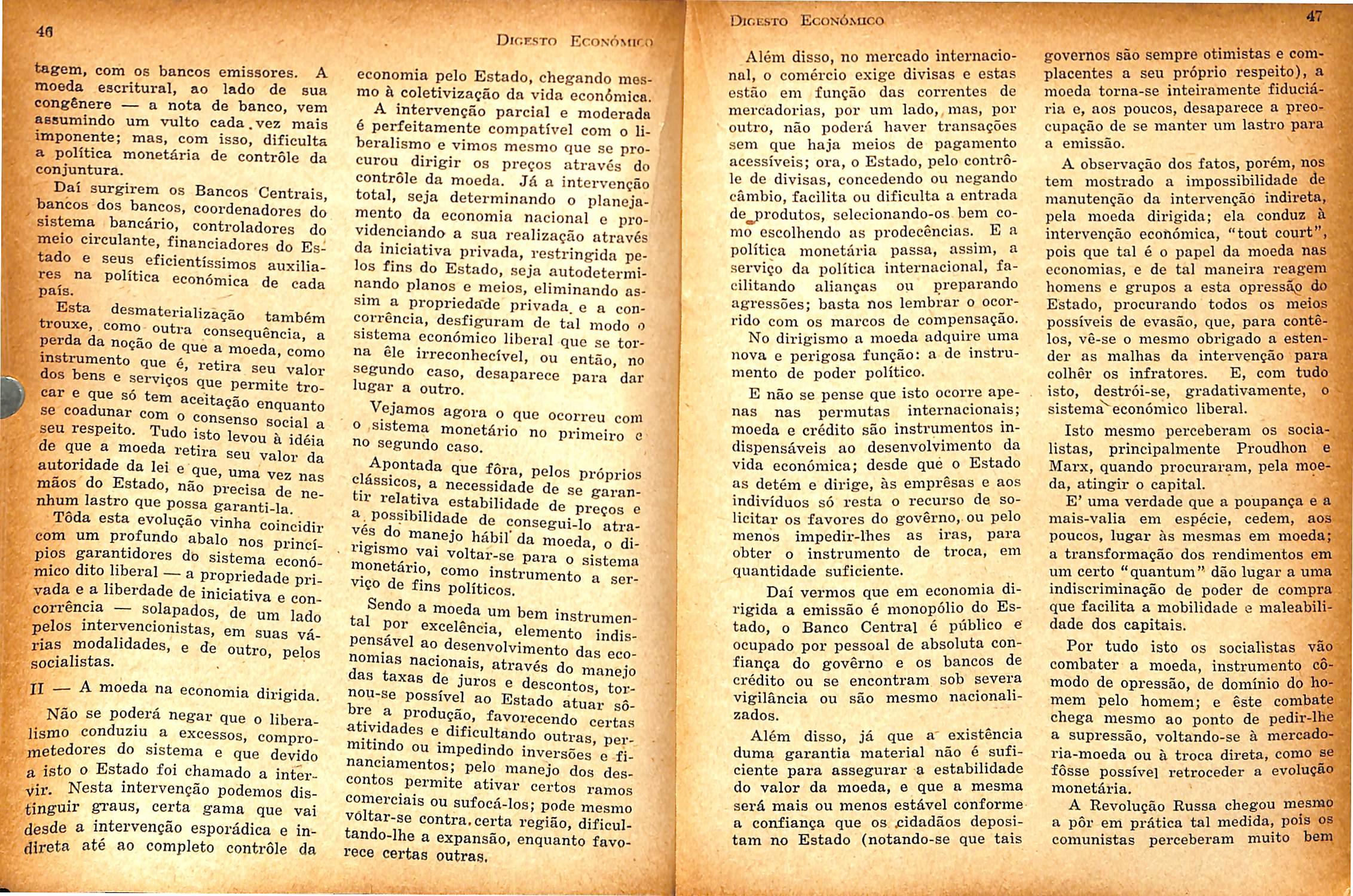
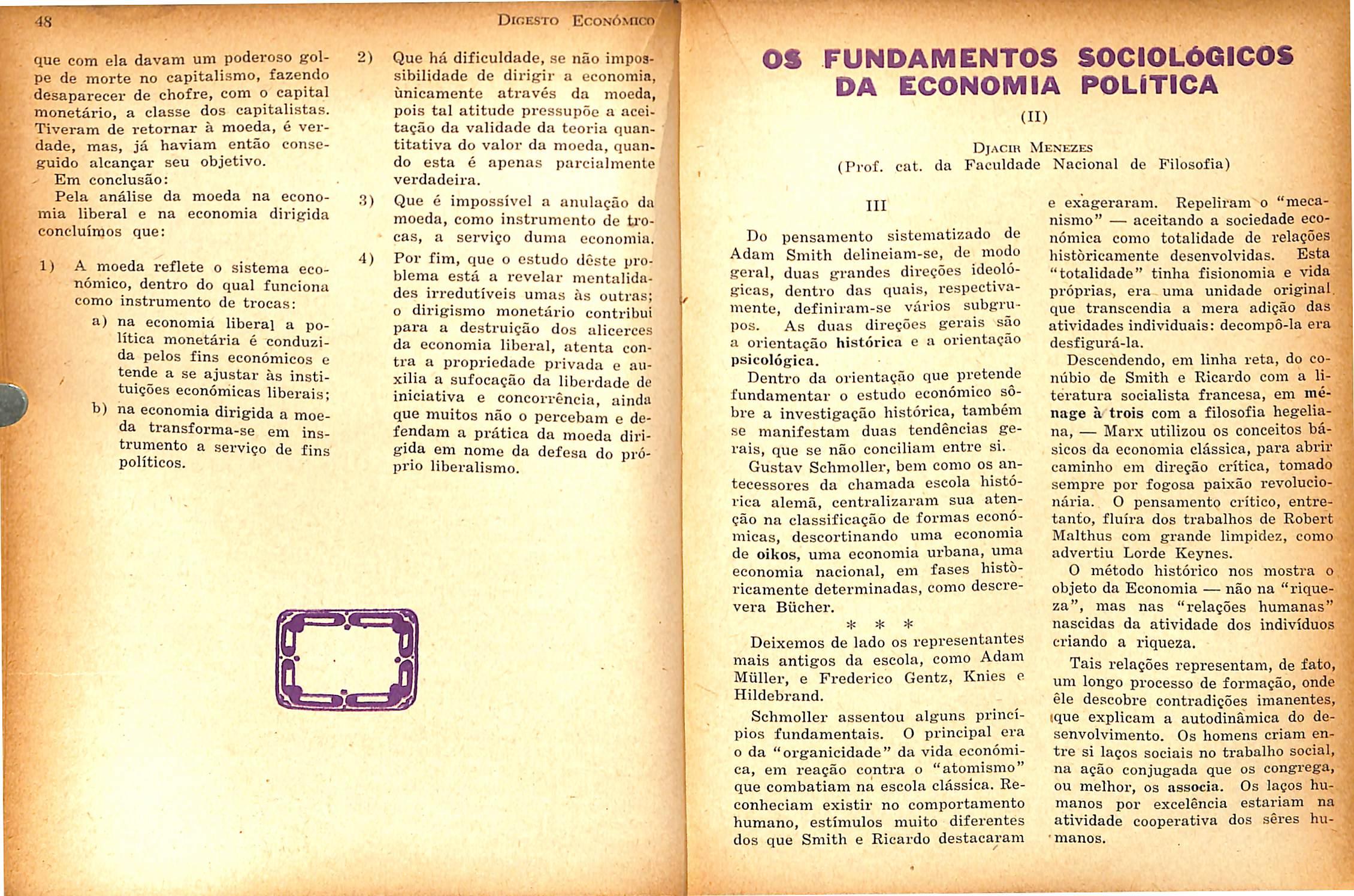


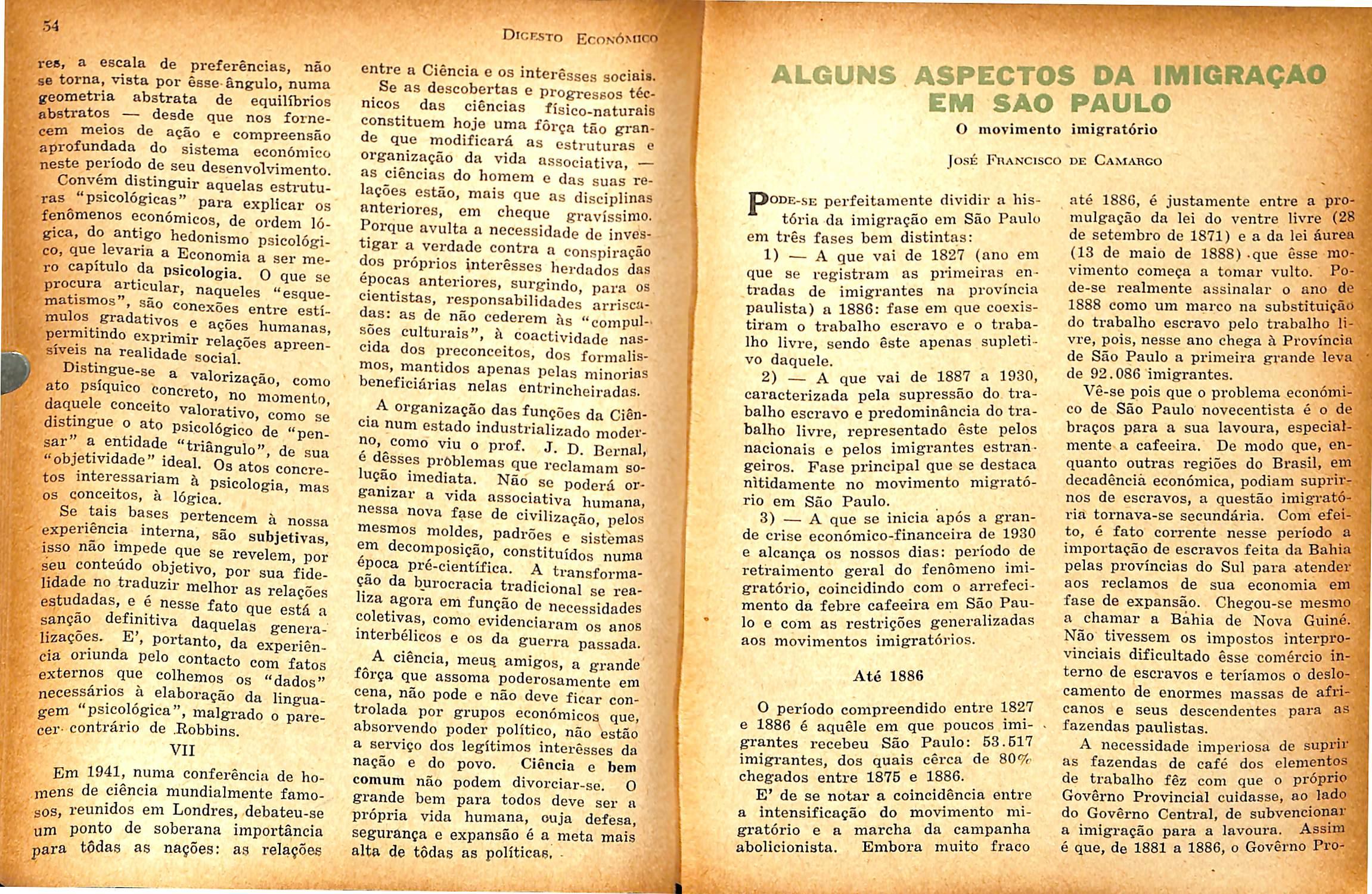
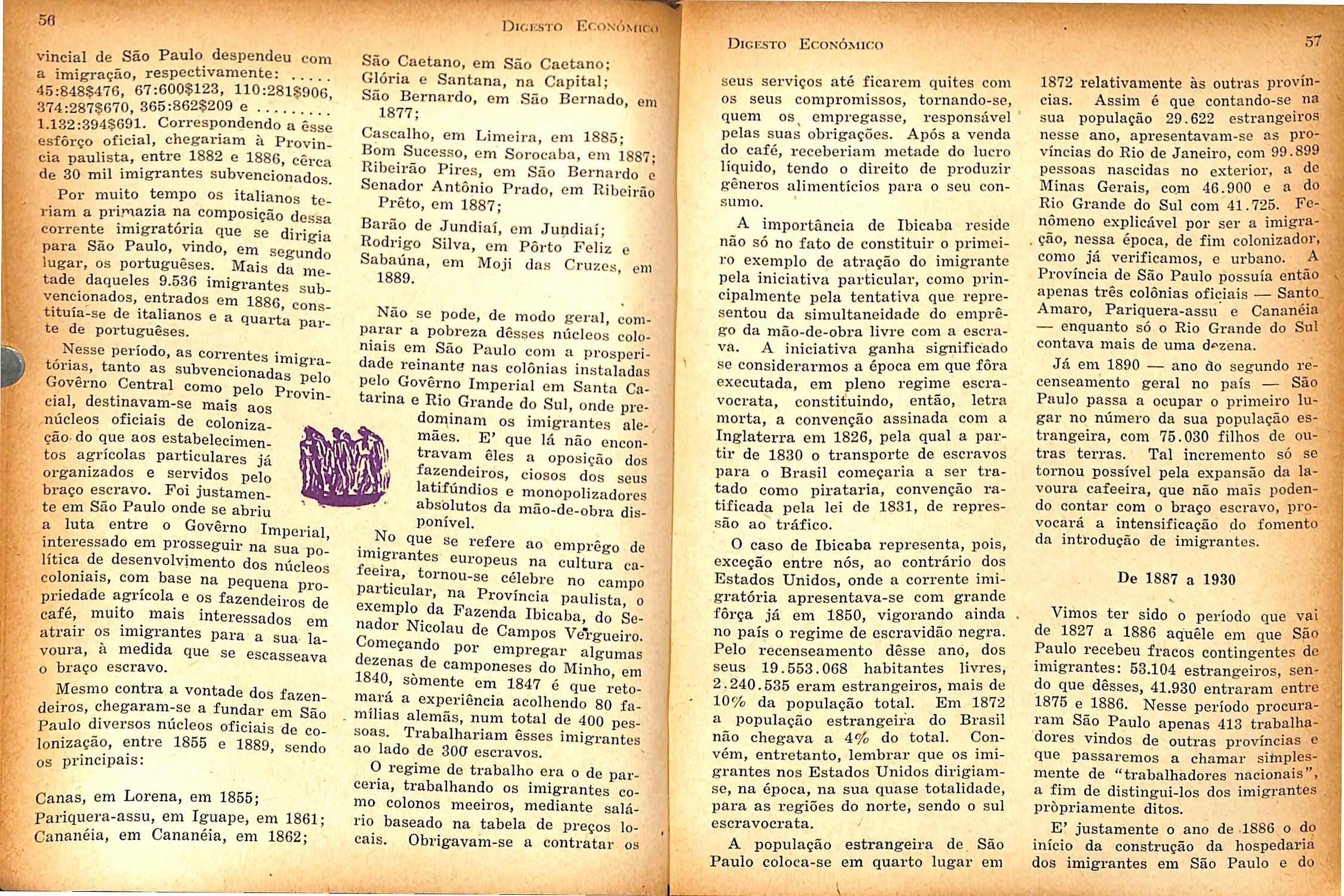
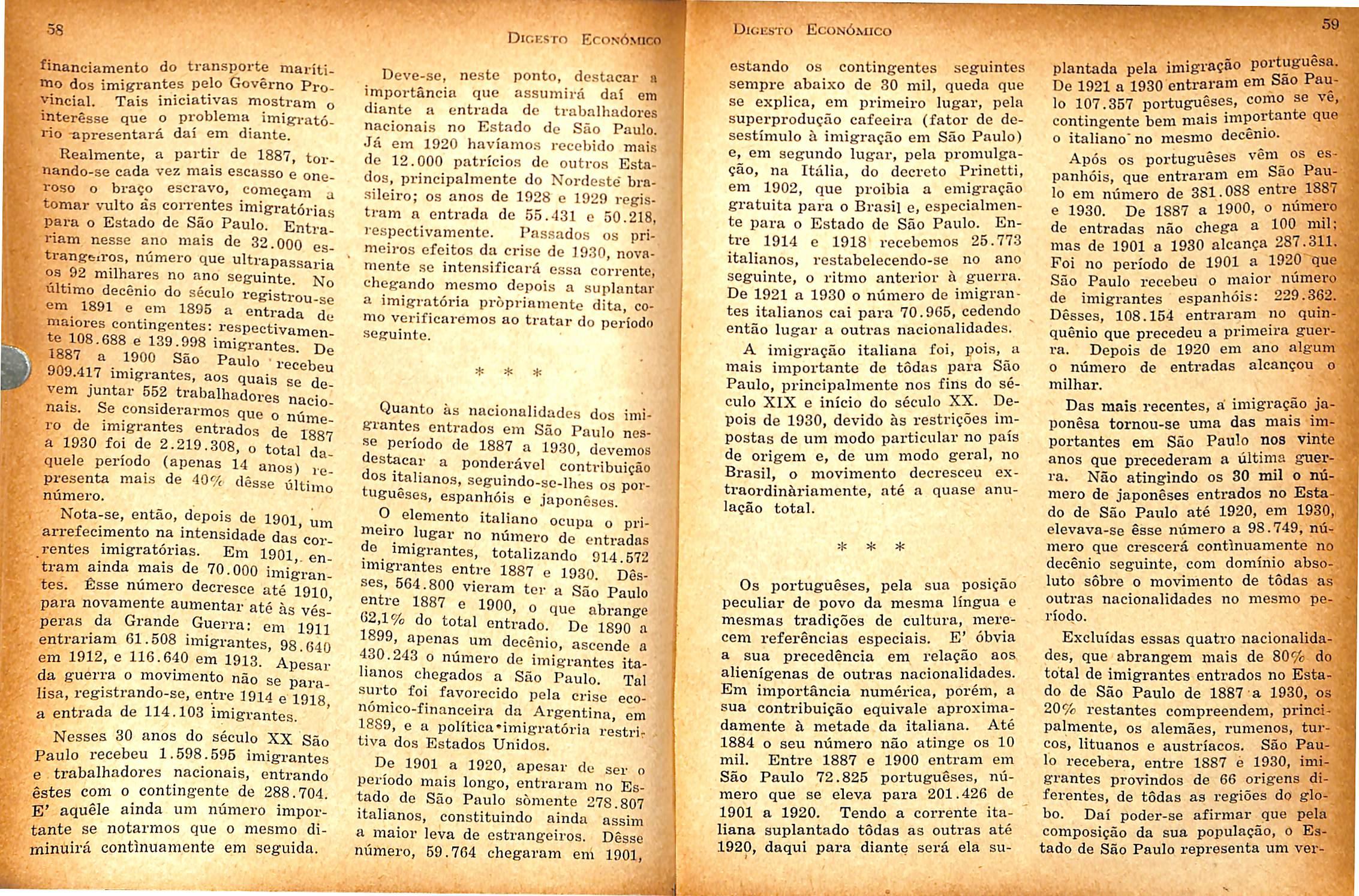
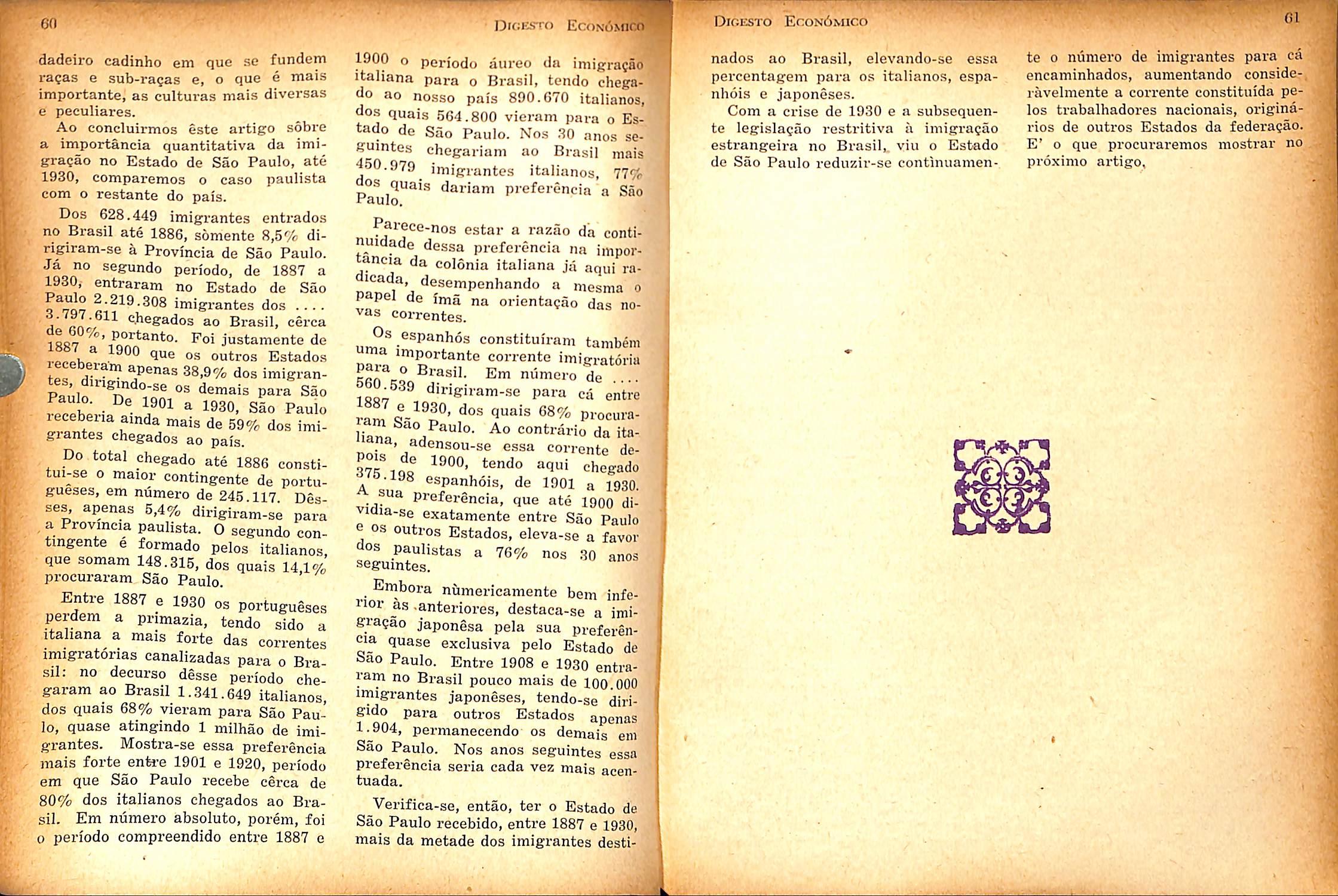
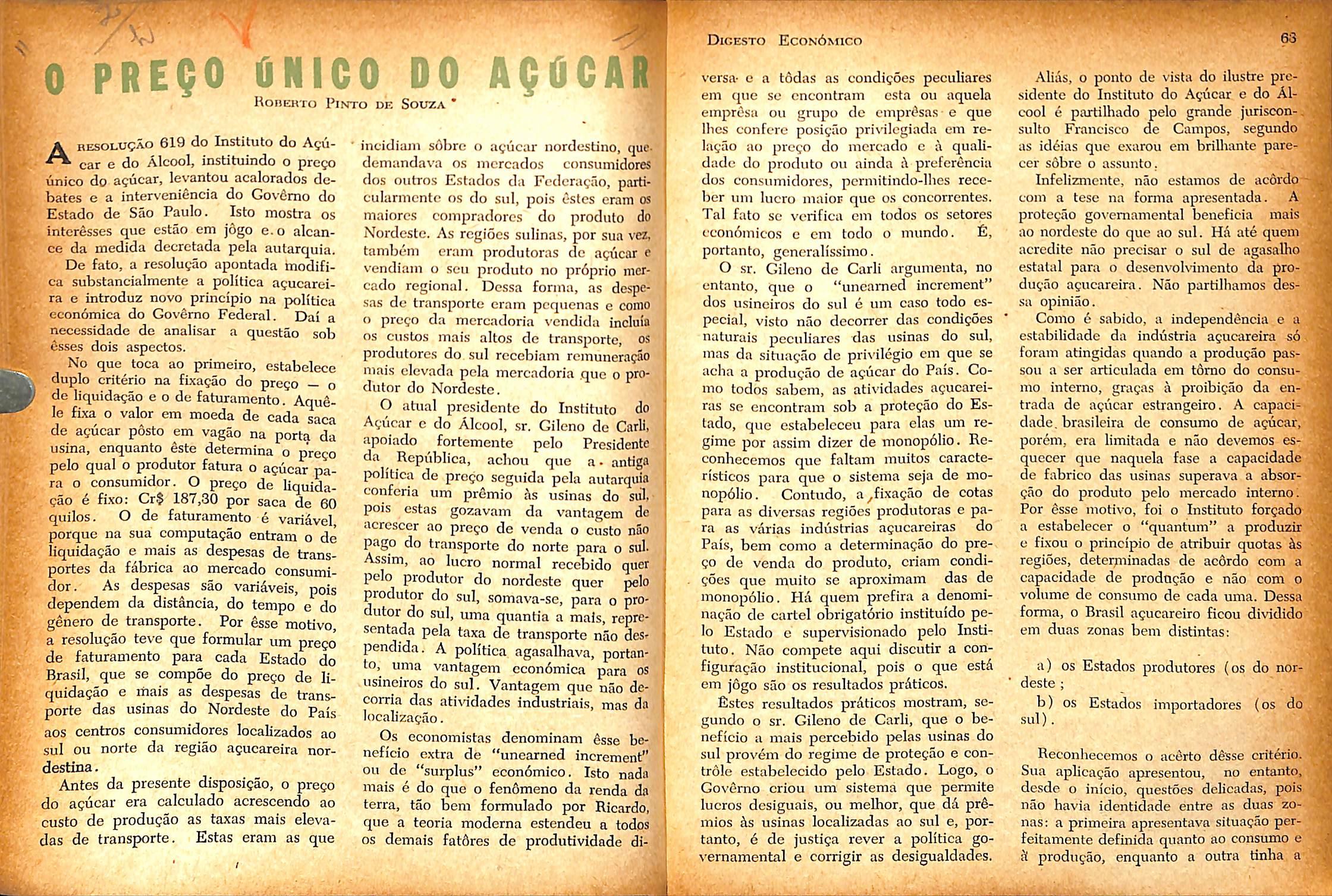
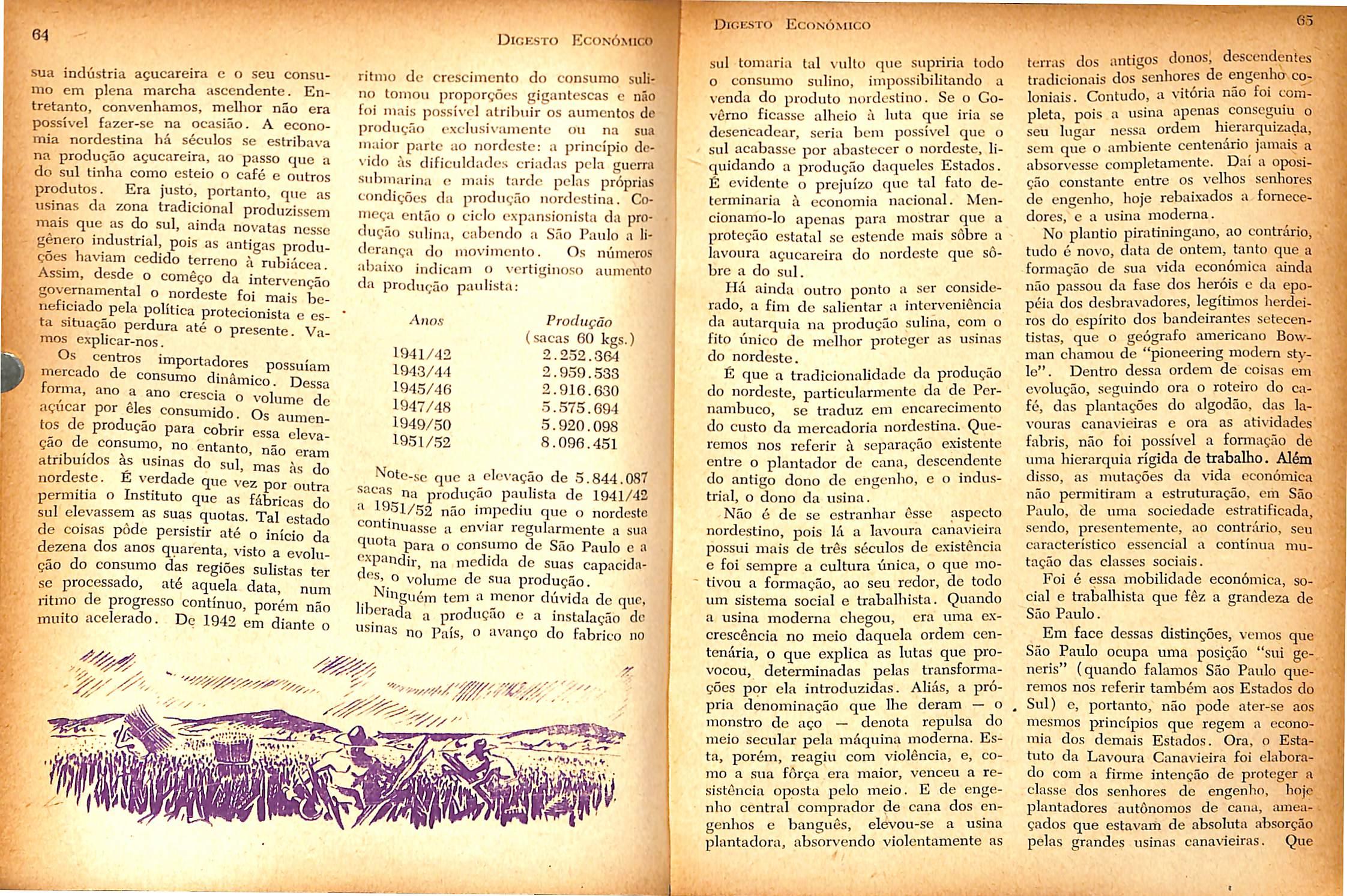


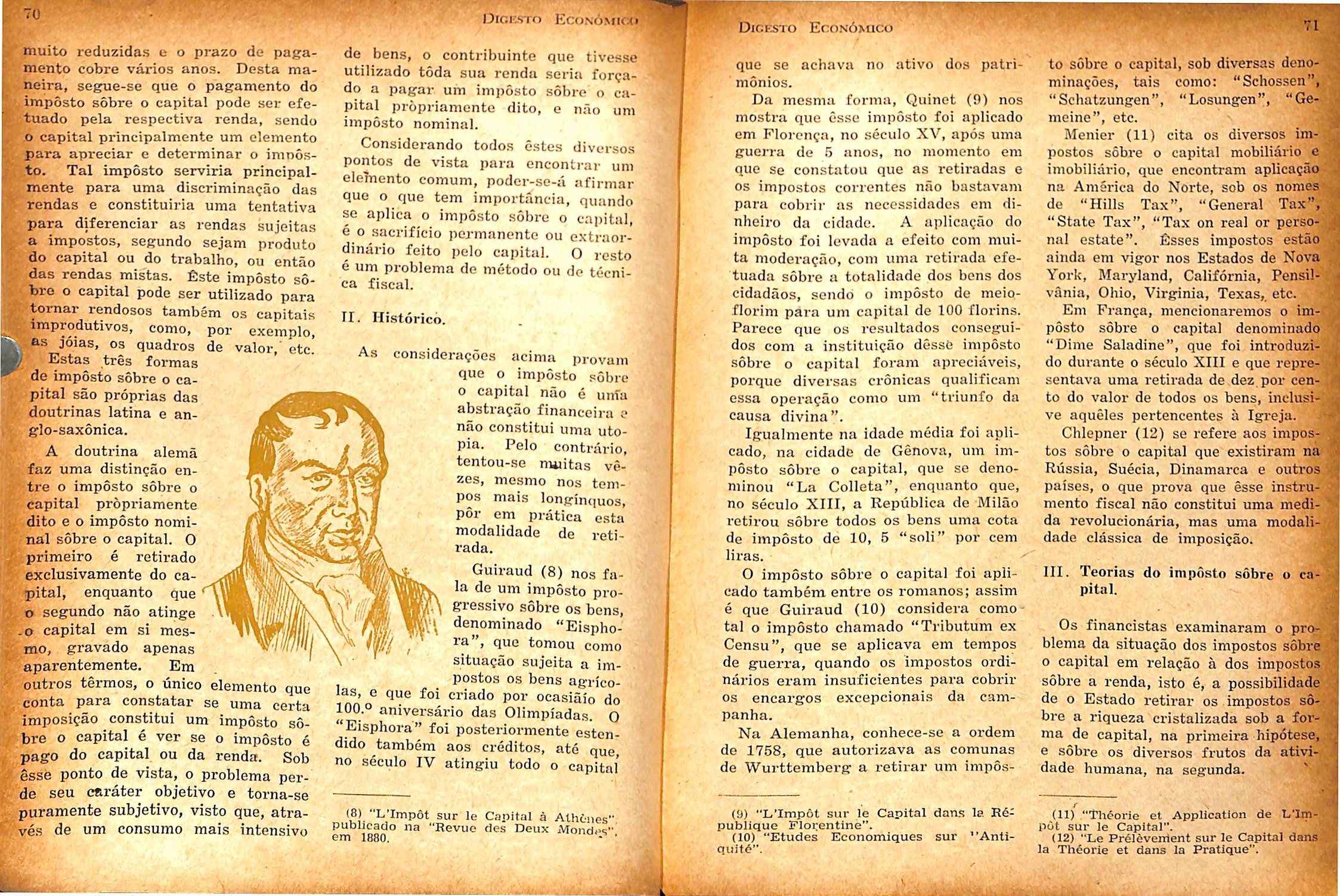

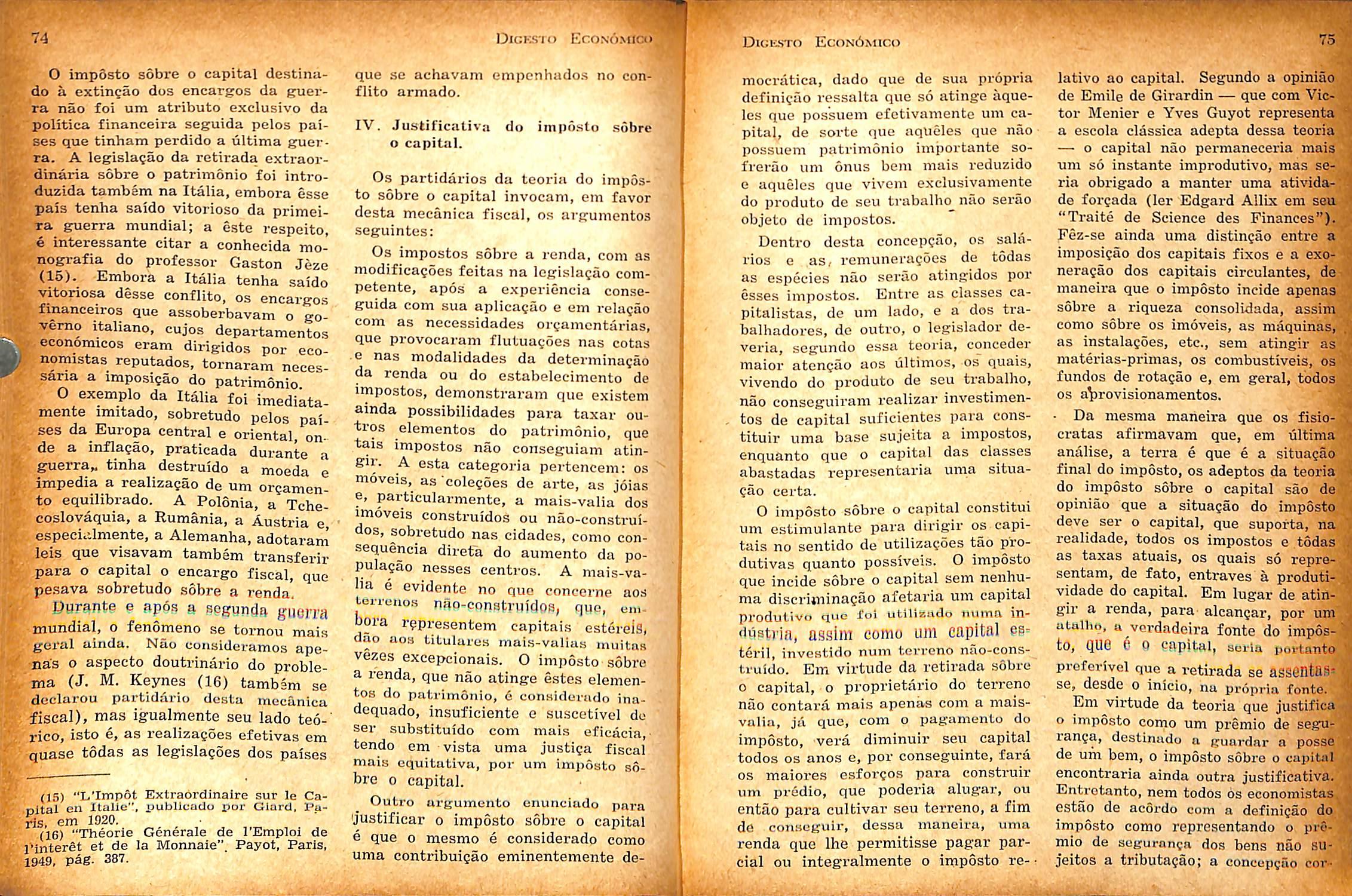
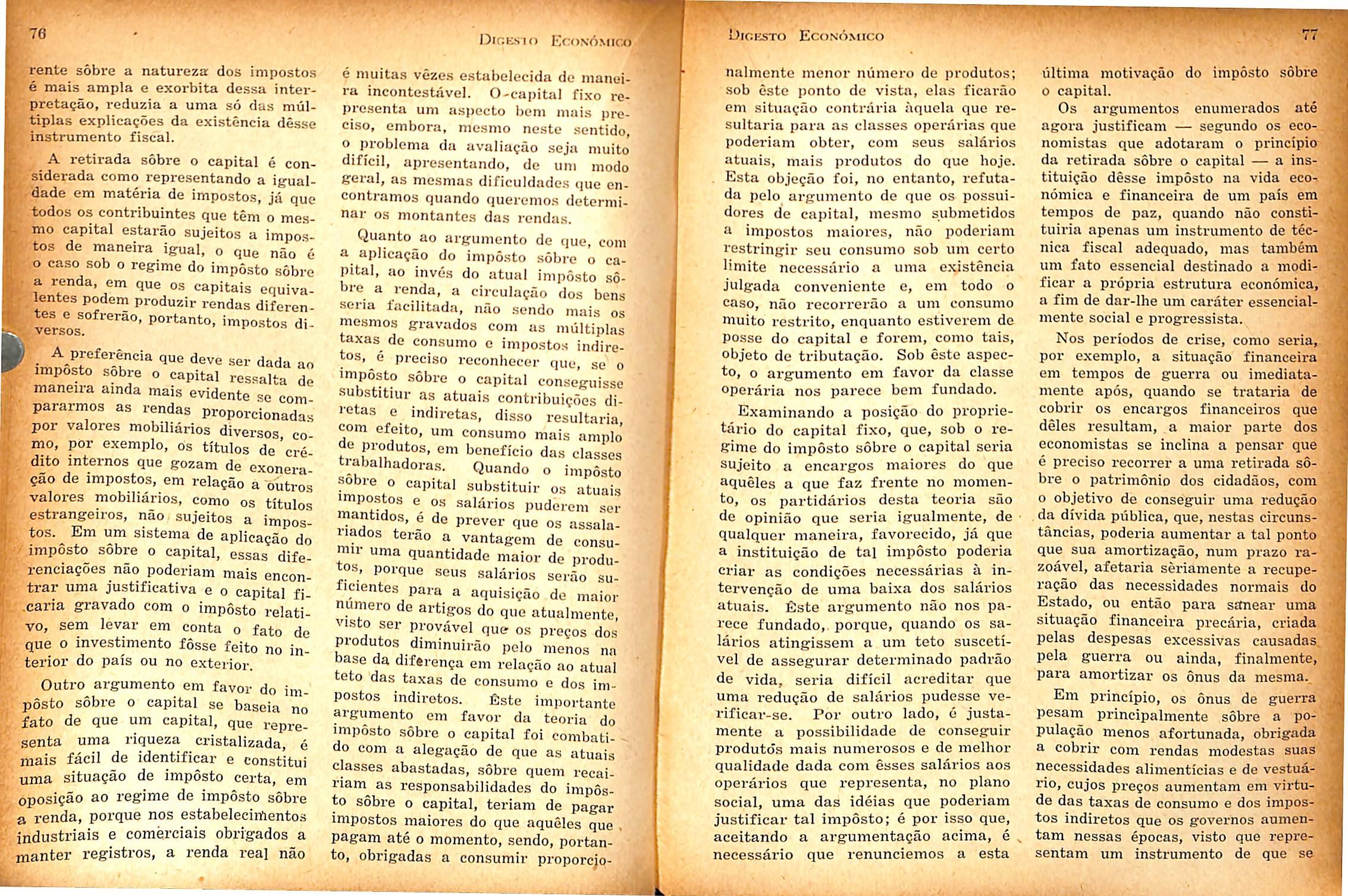
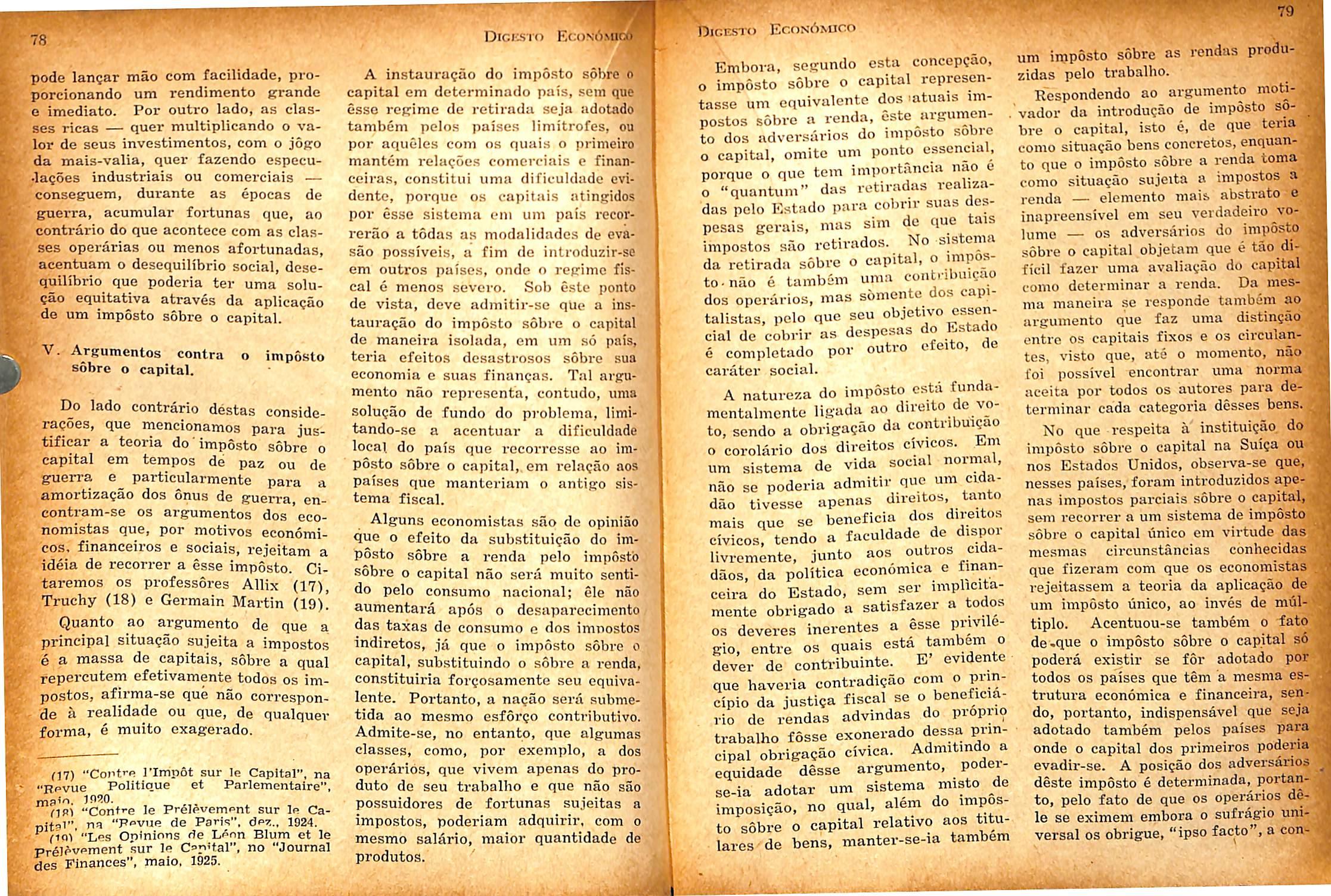

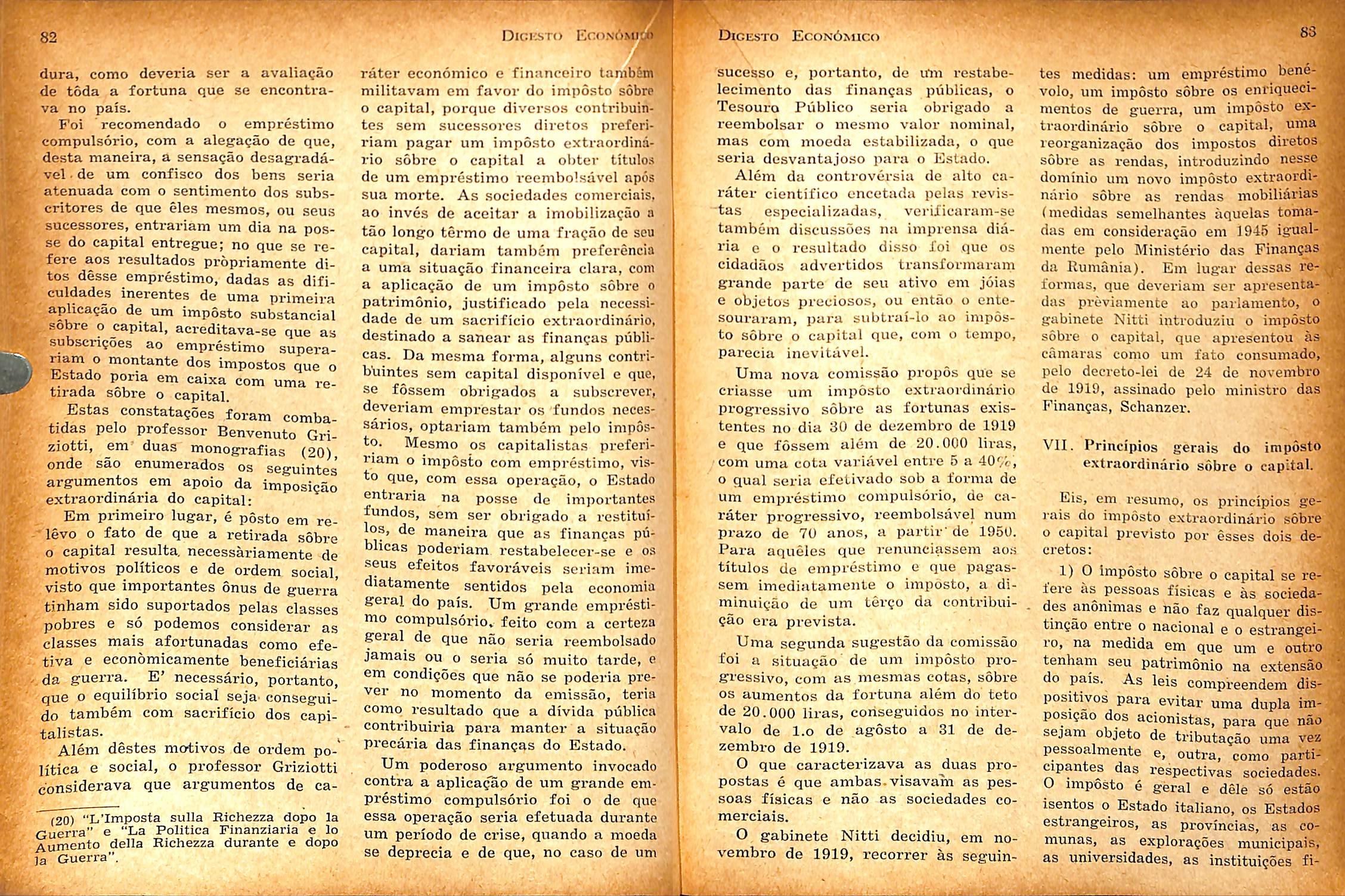

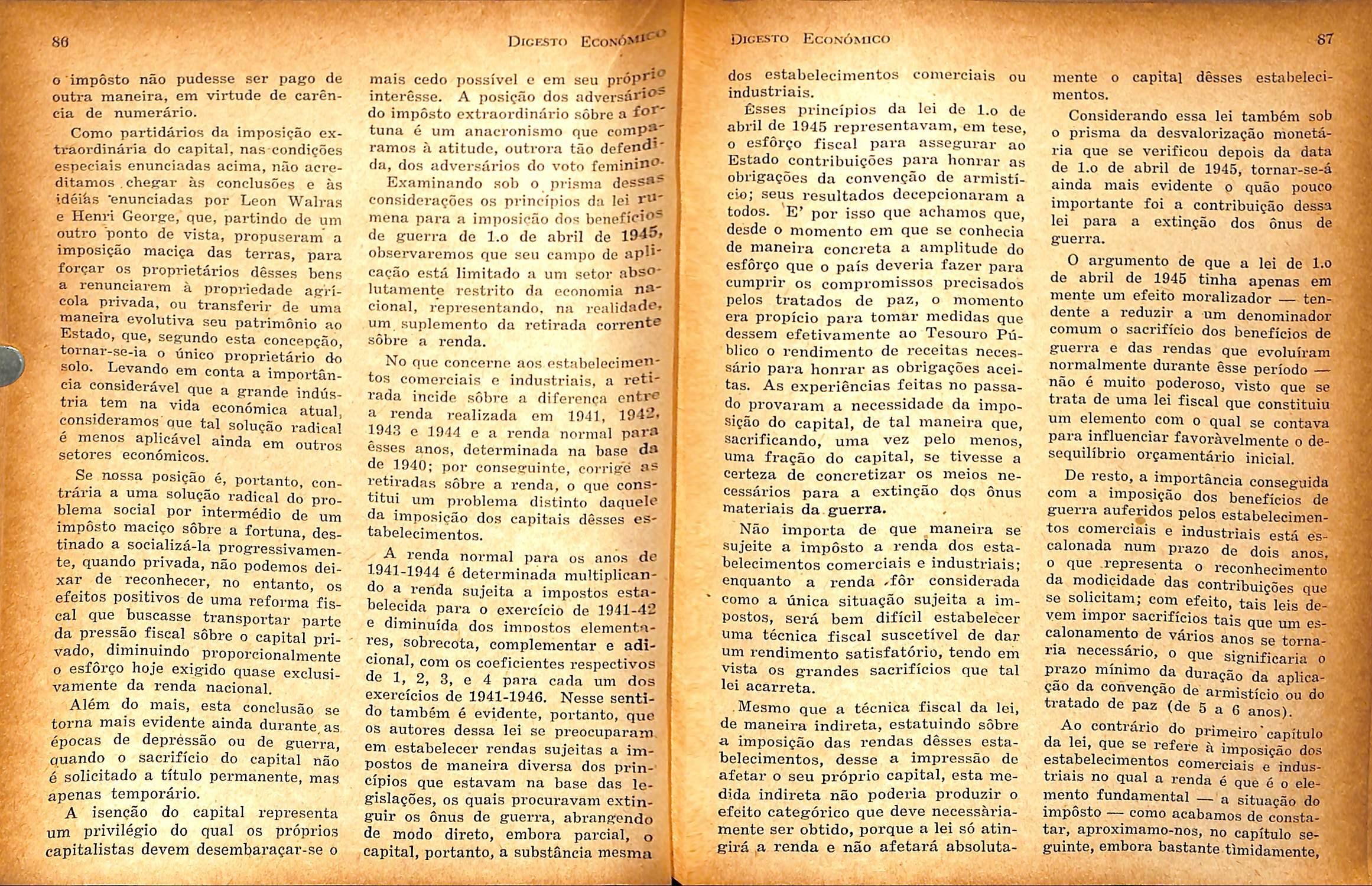
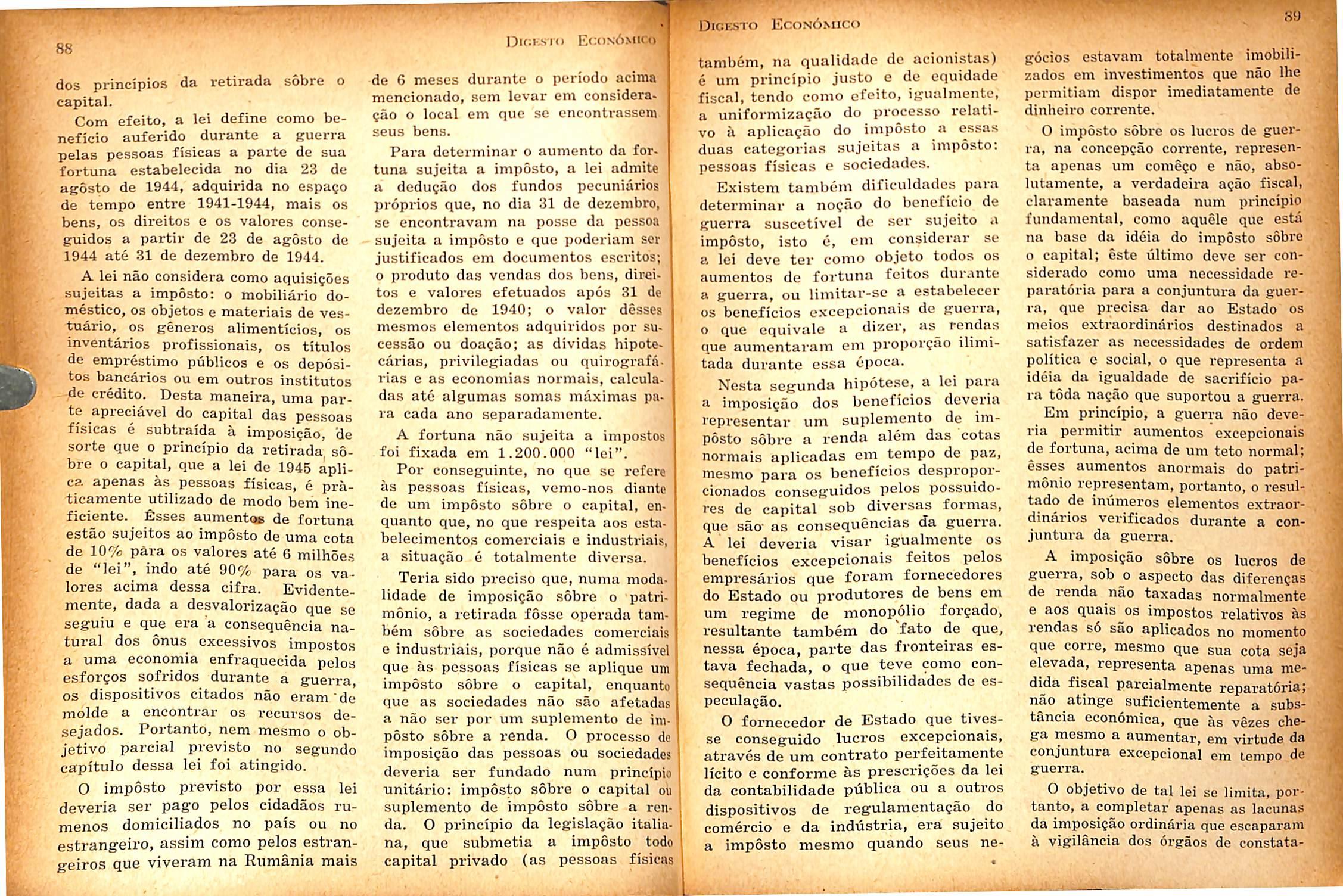
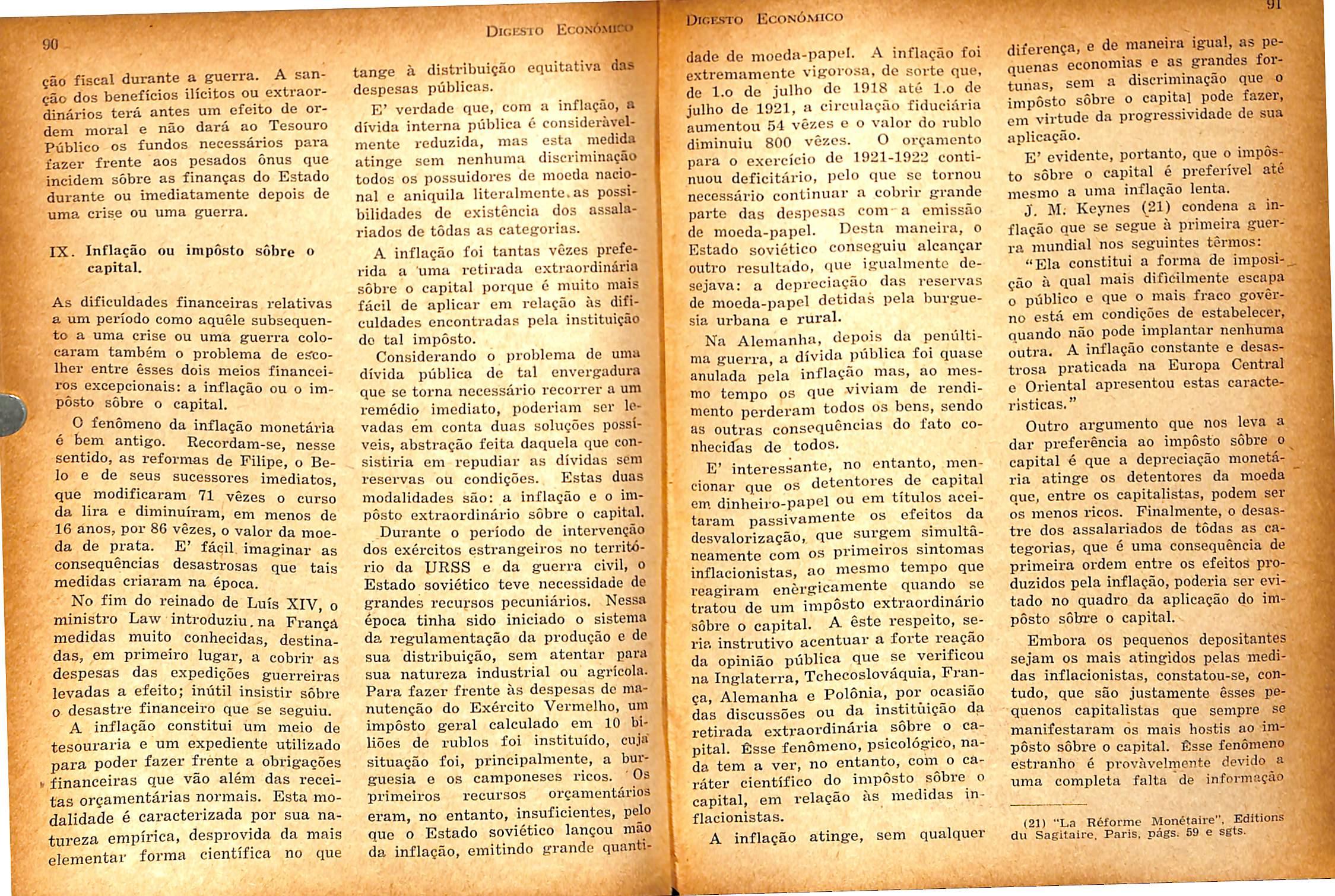

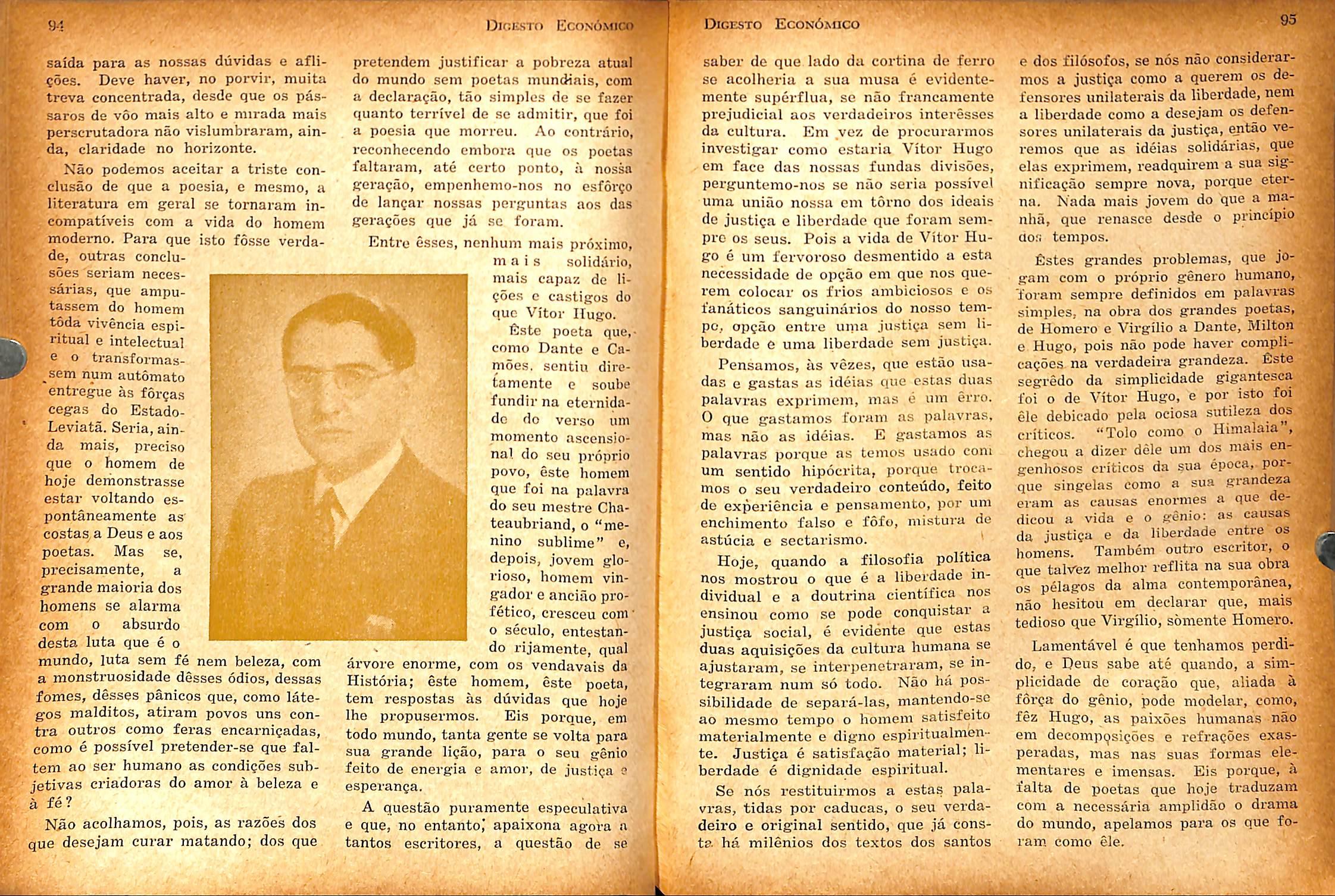
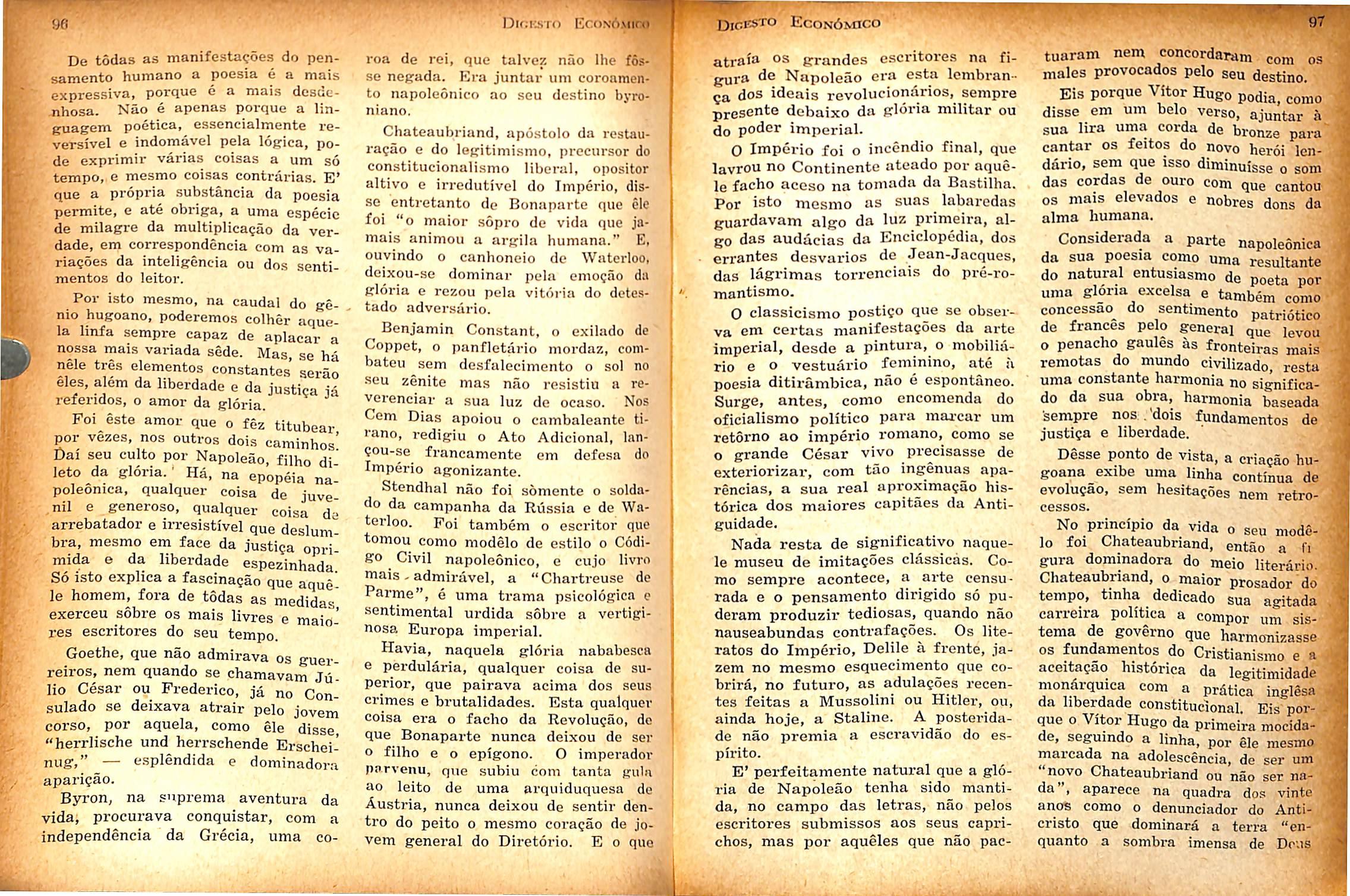
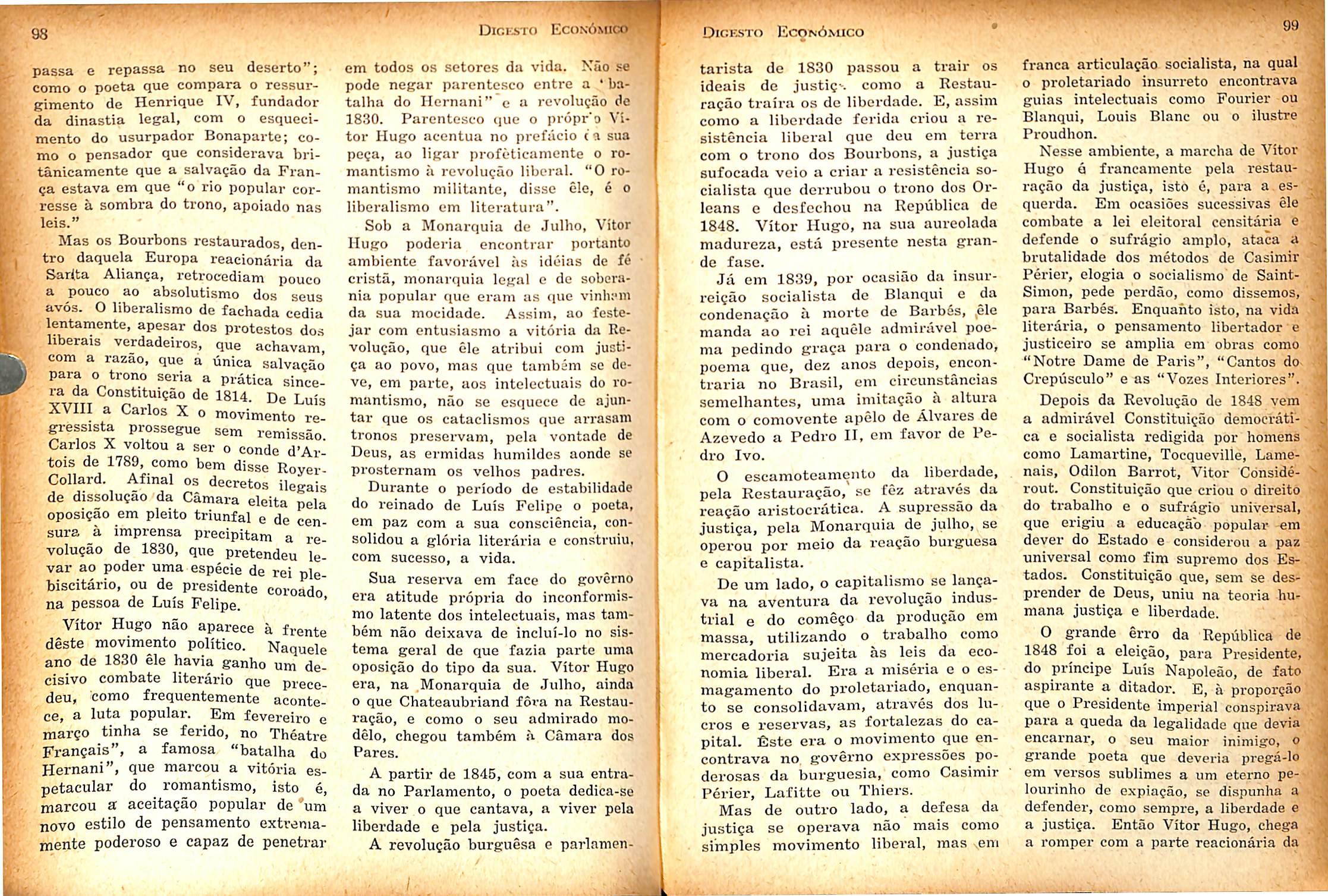
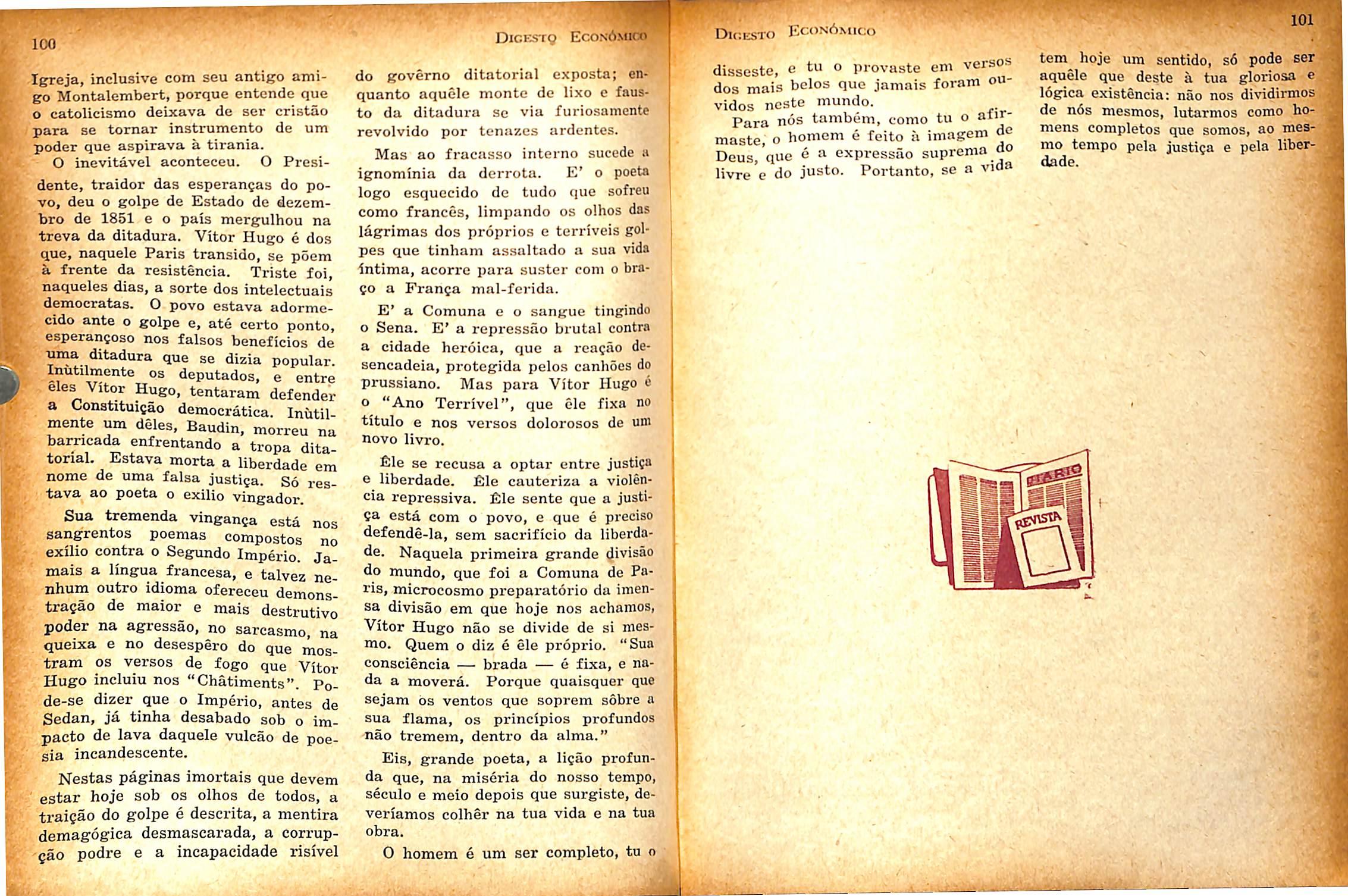

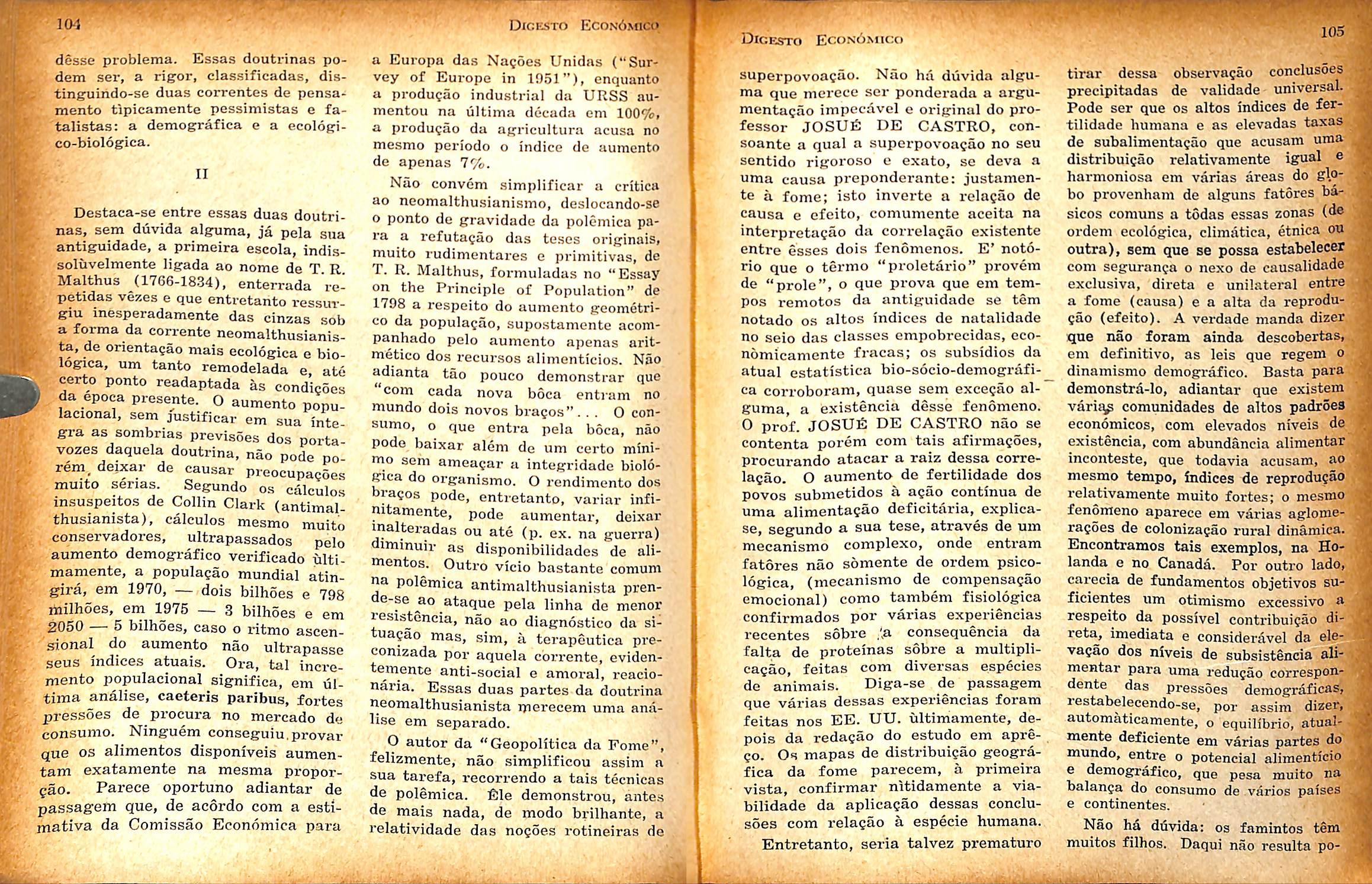
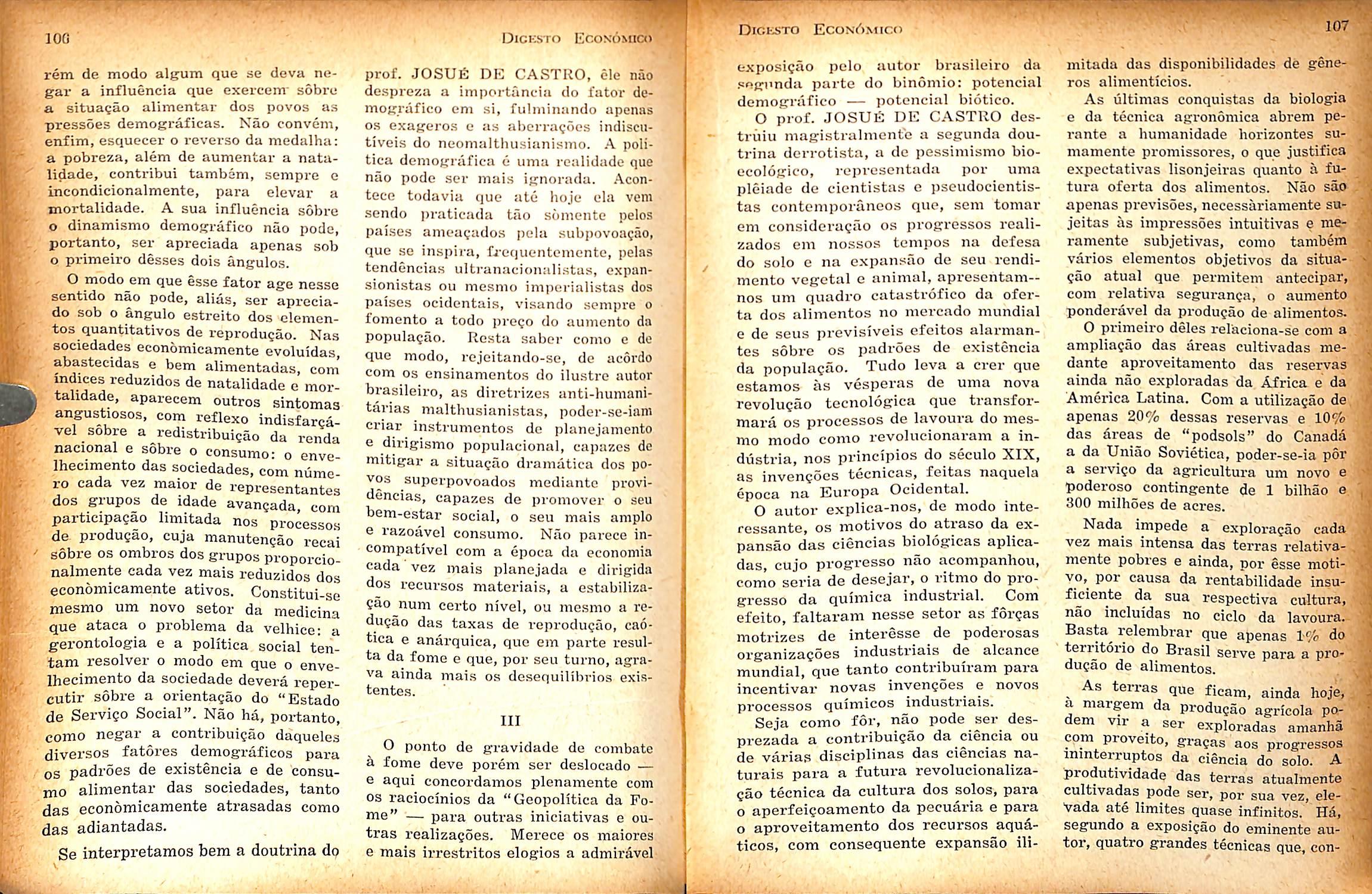
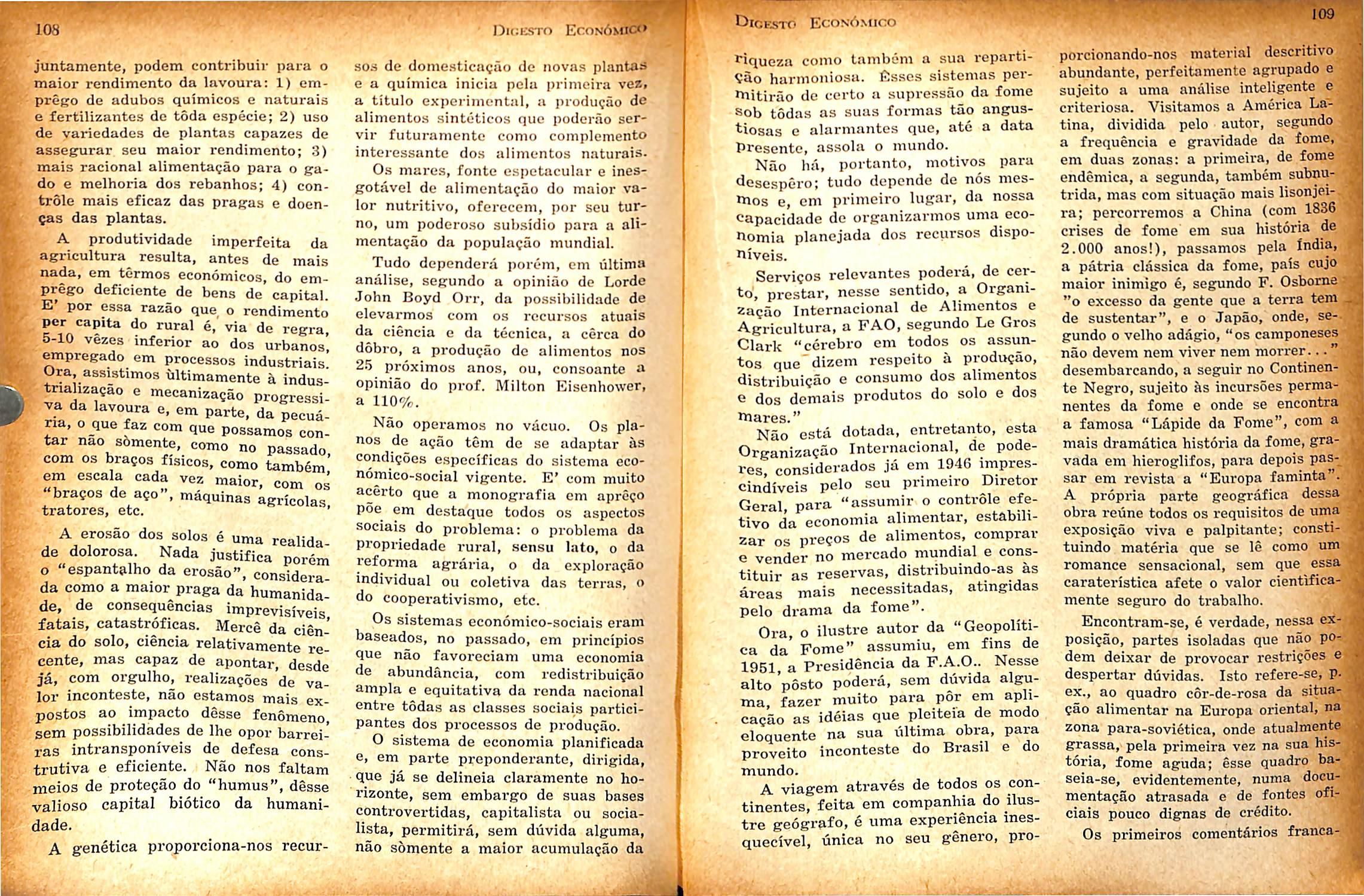
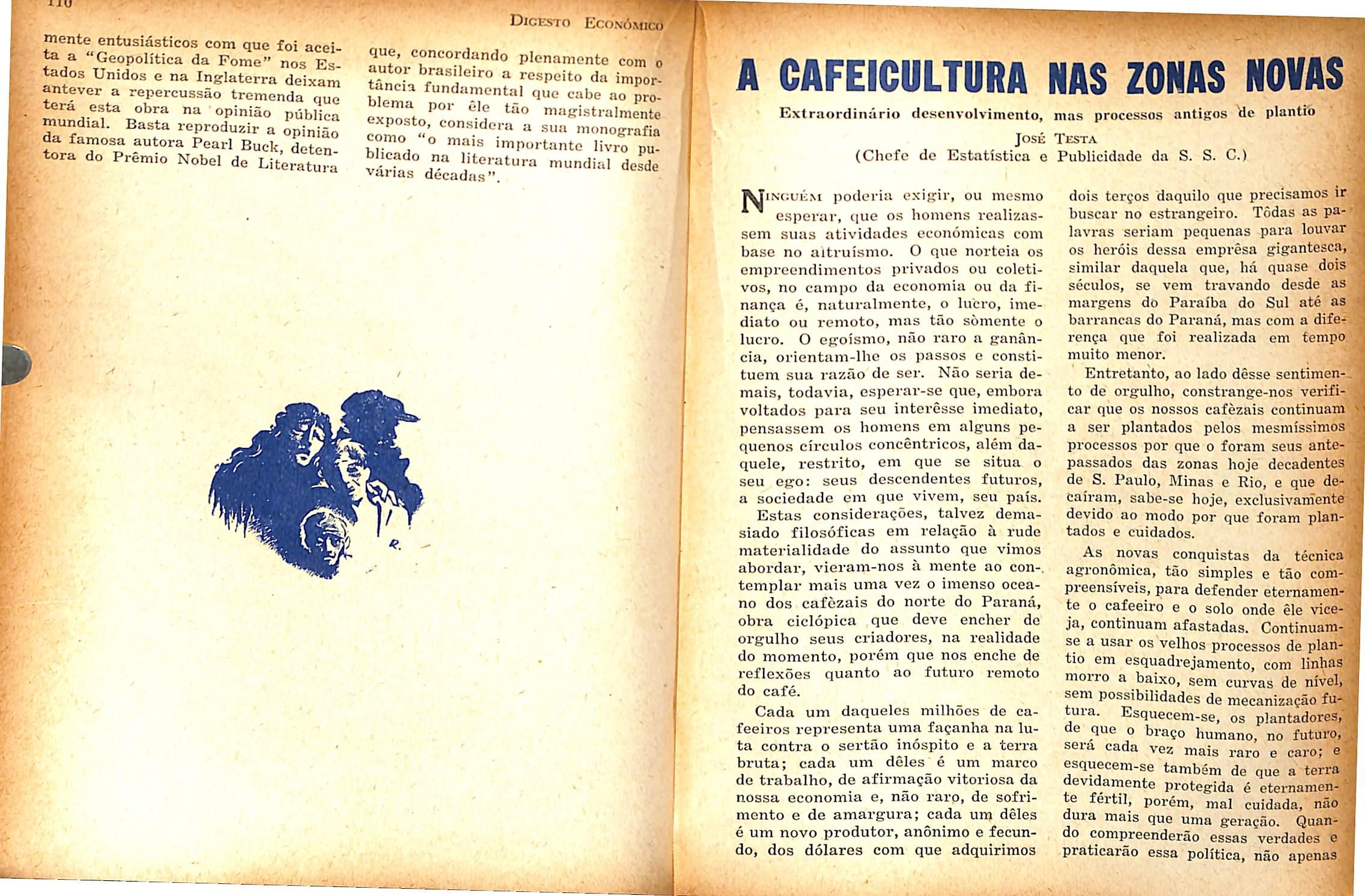
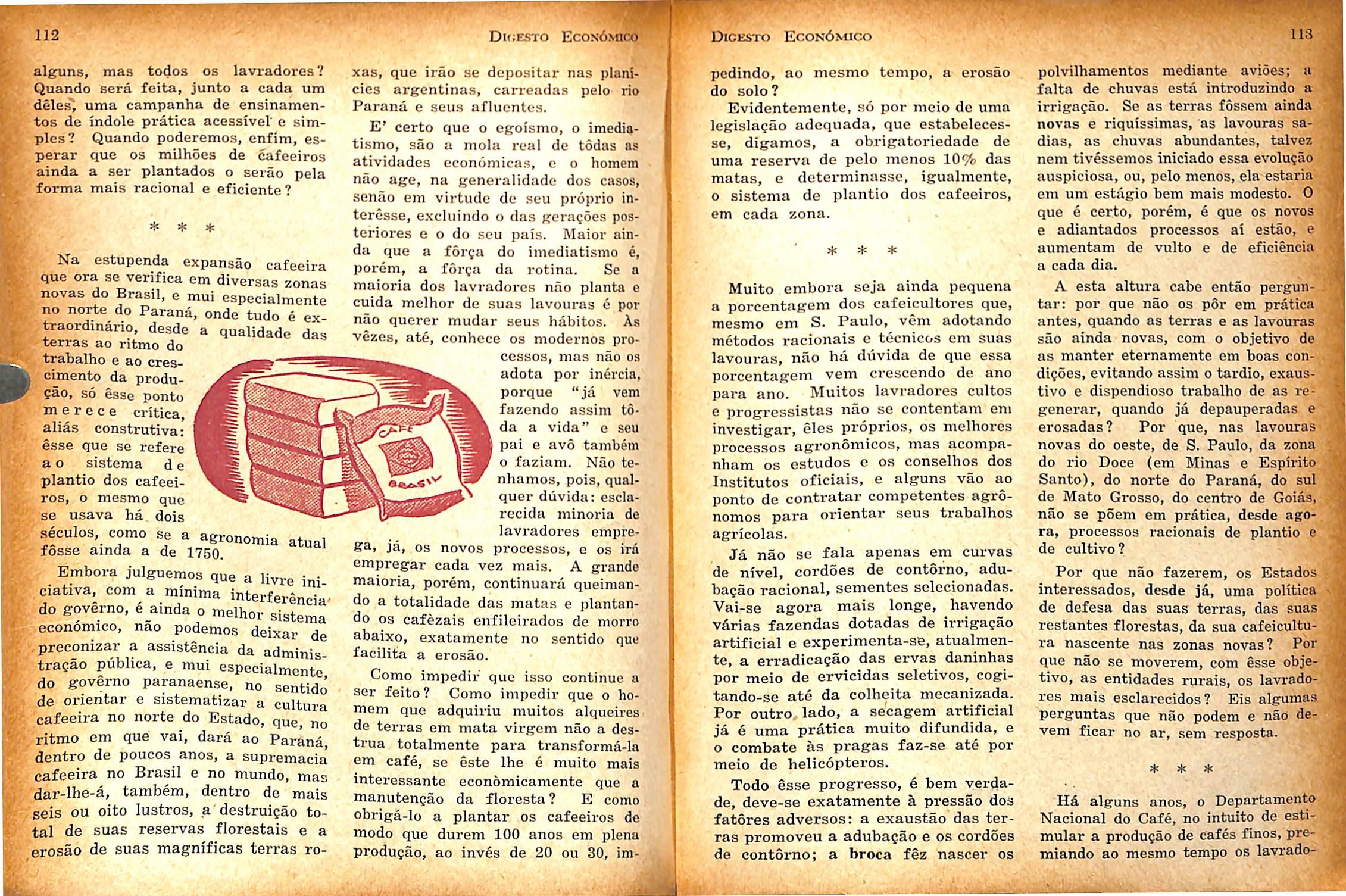
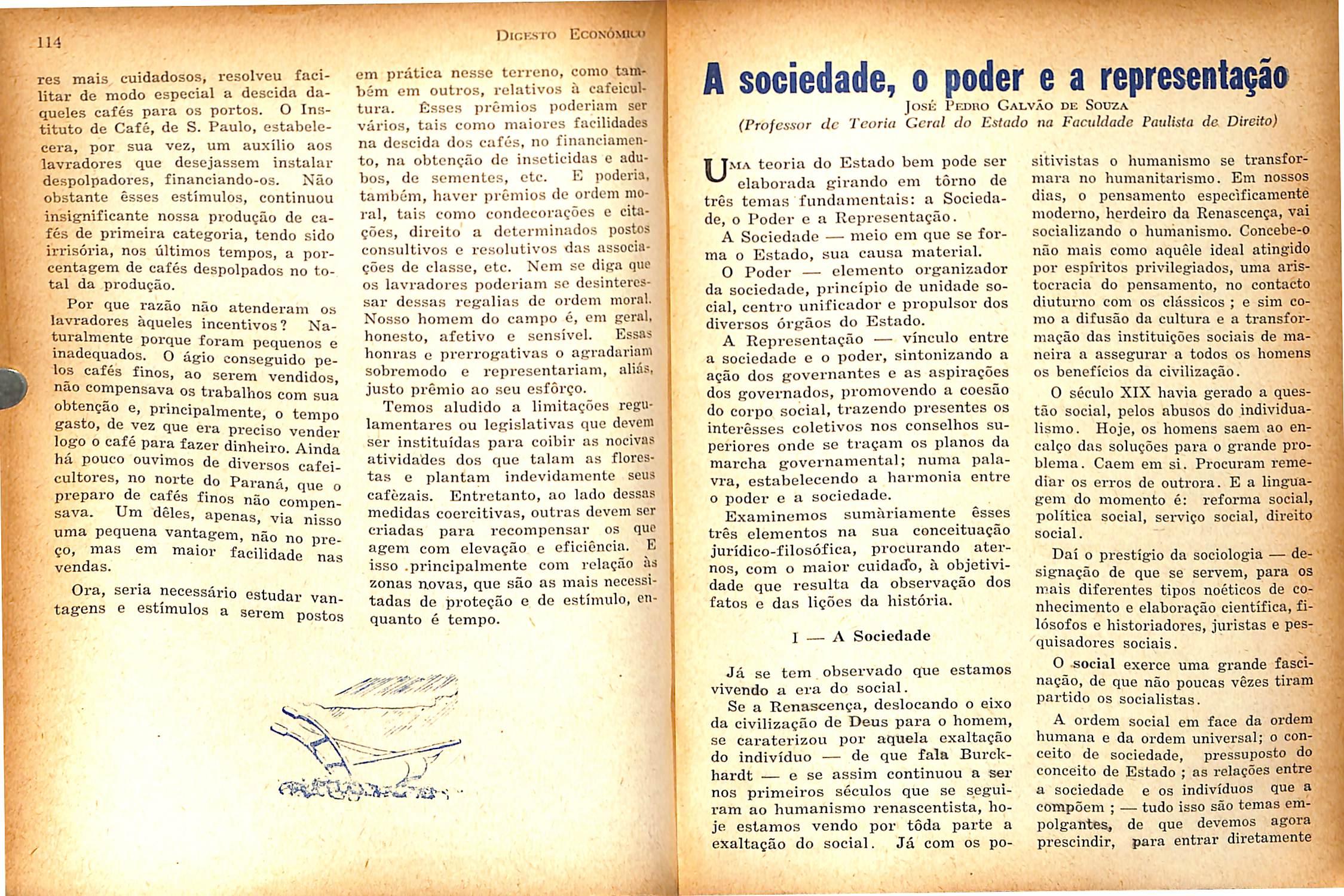
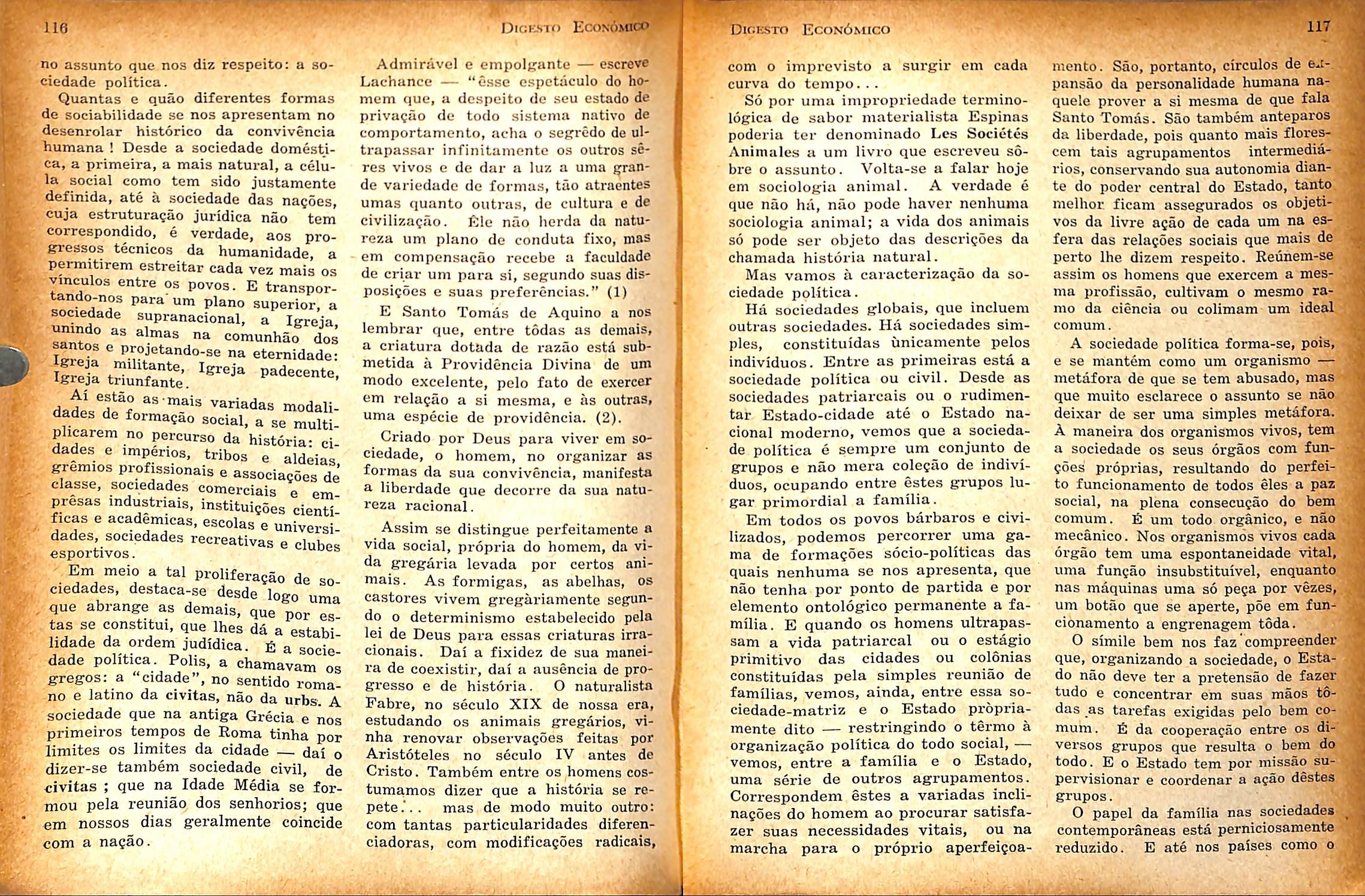
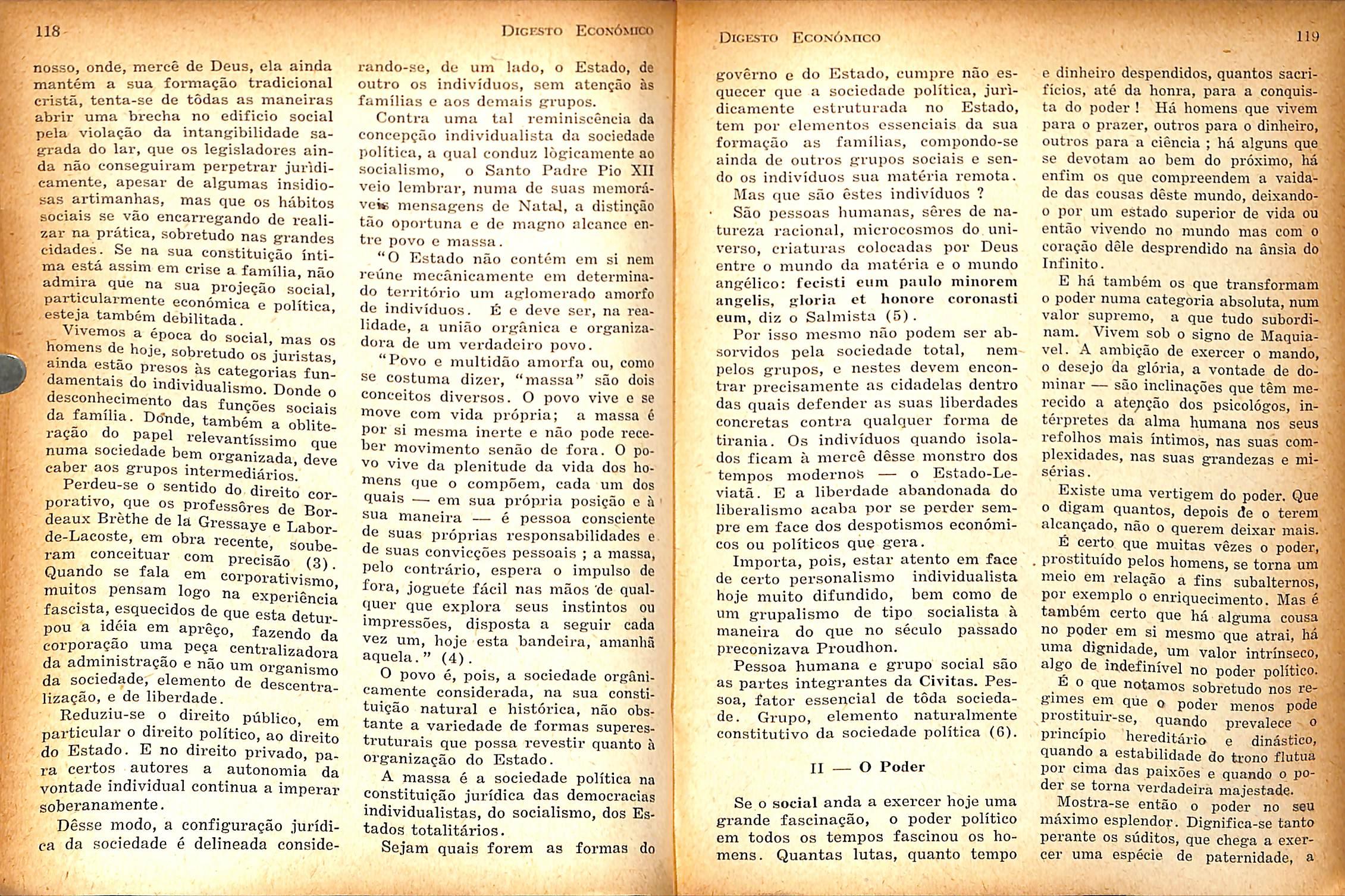
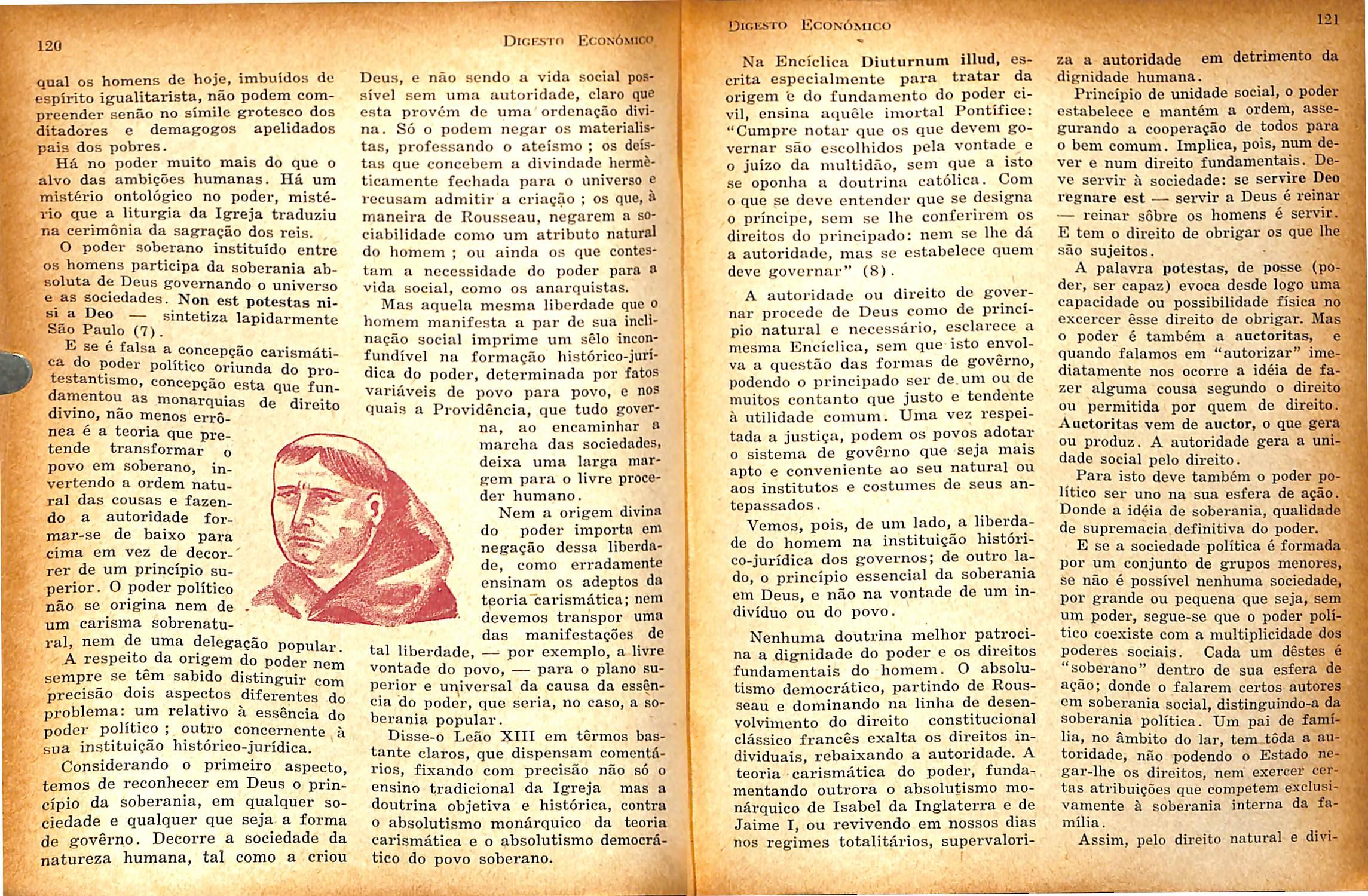
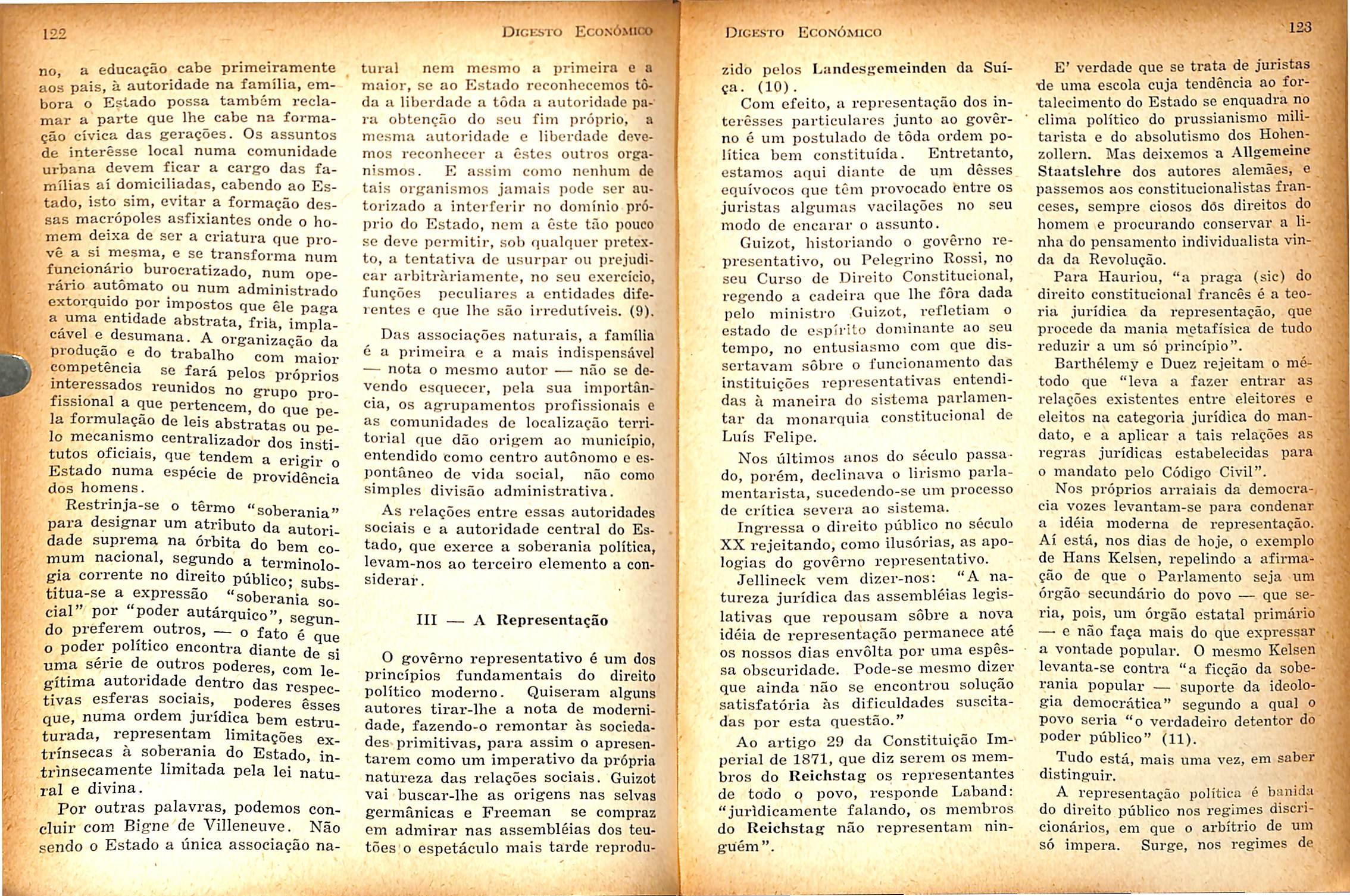
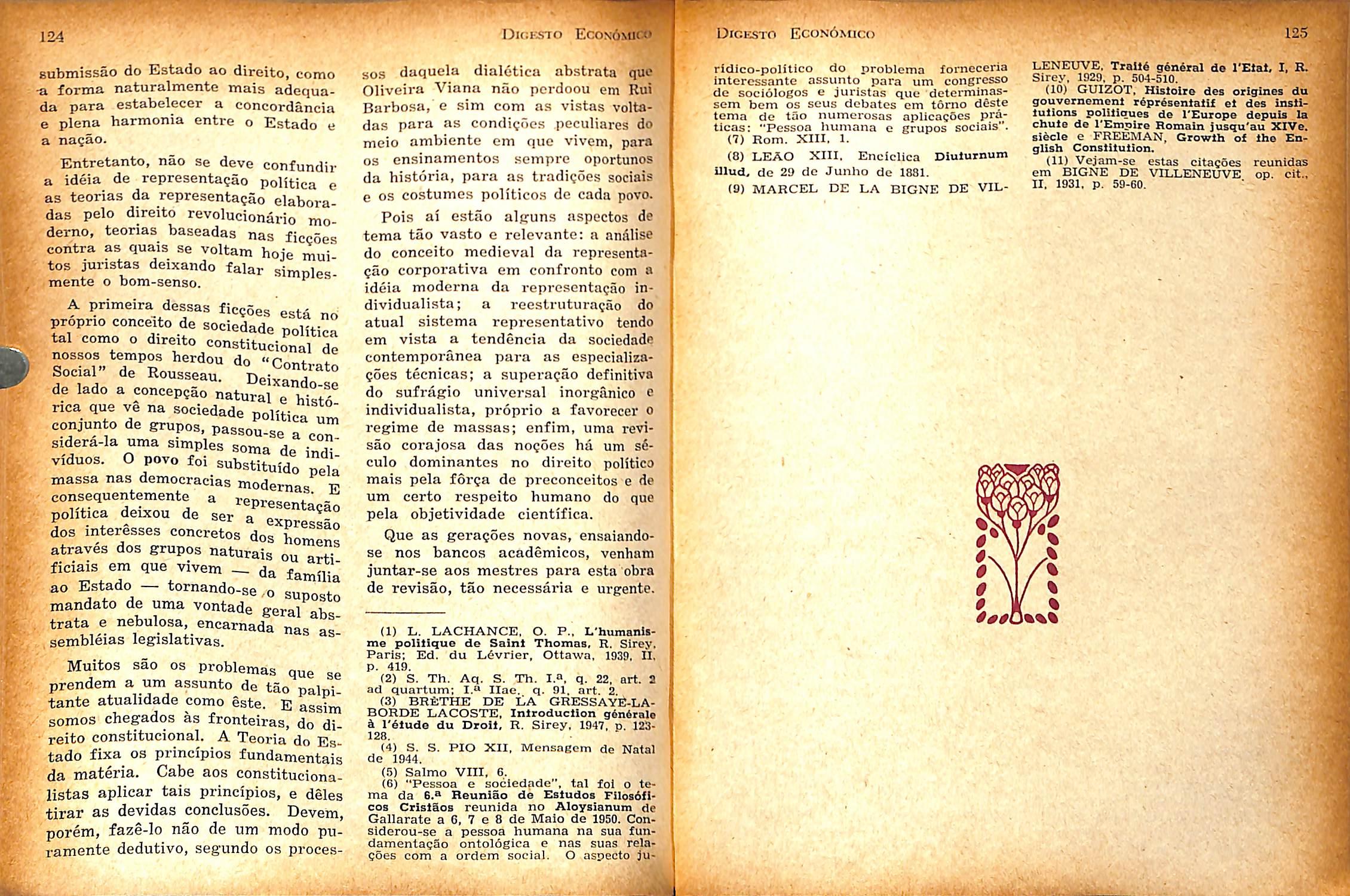
 PlMENTKI, COMK.S
PlMENTKI, COMK.S