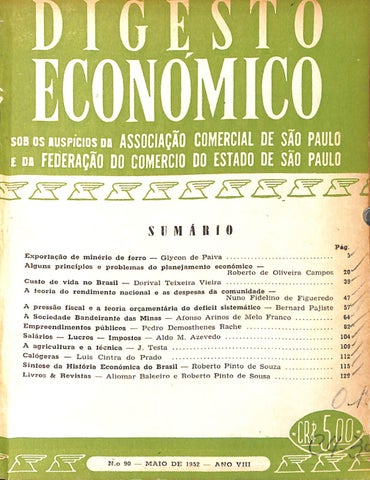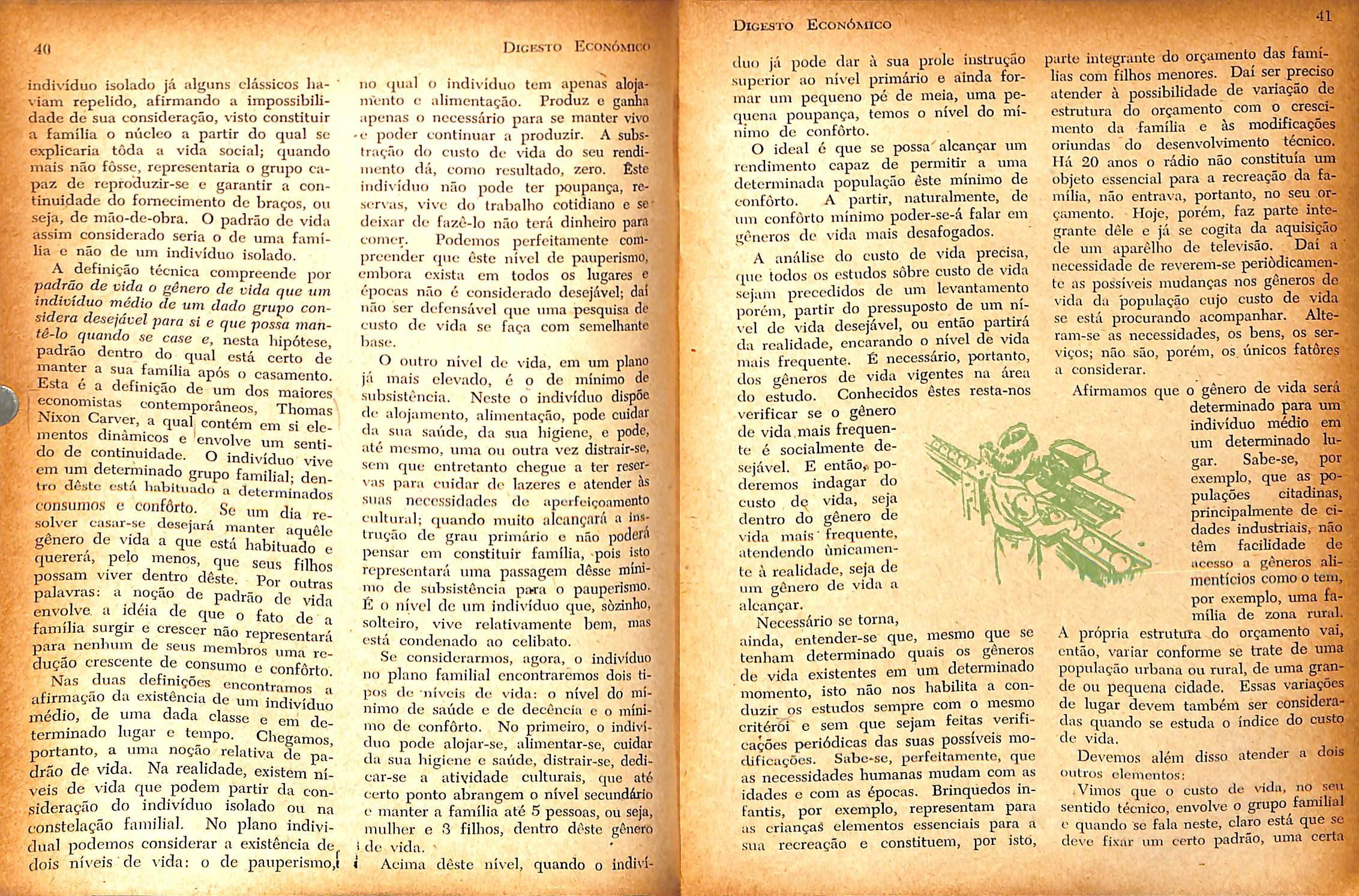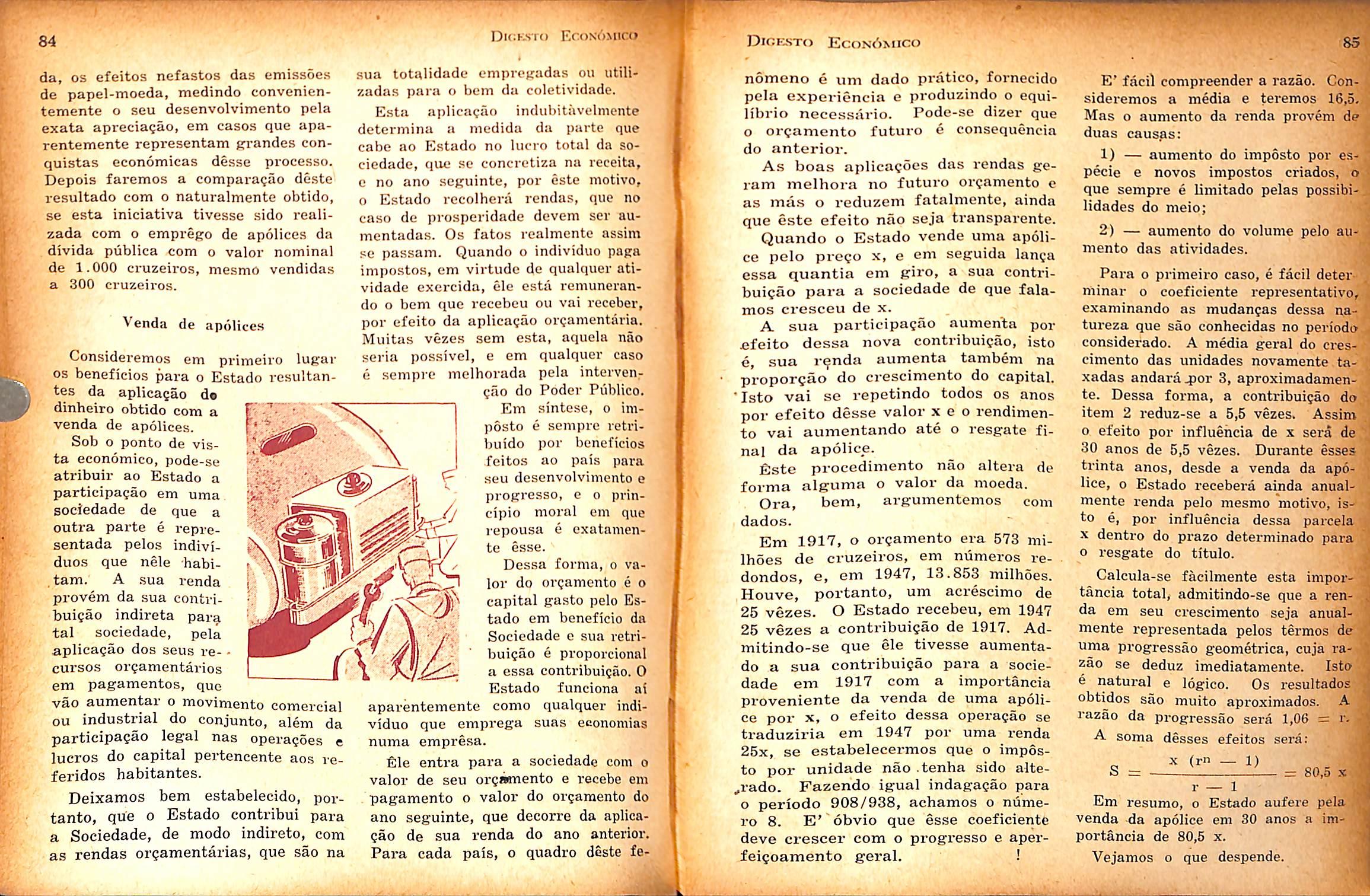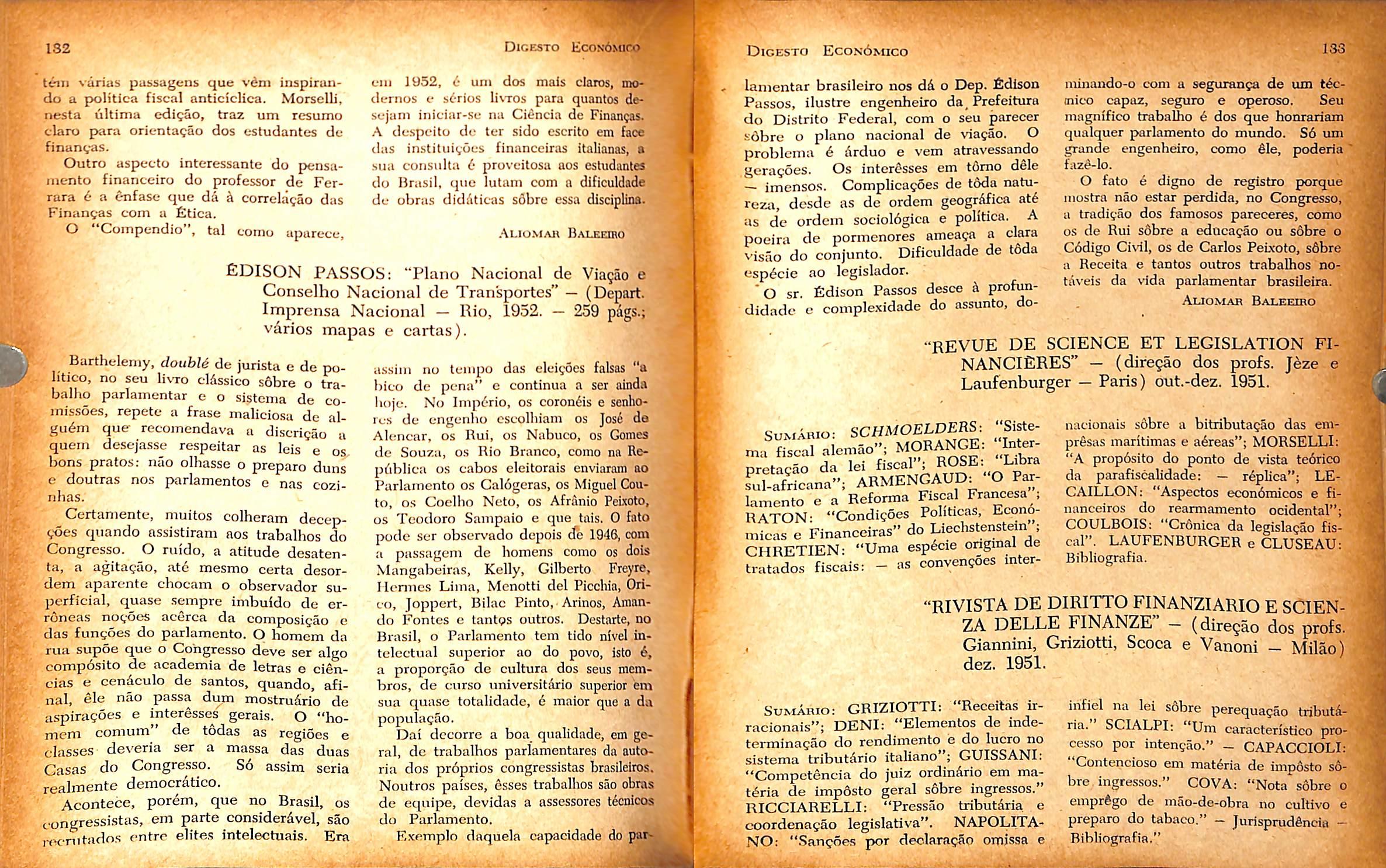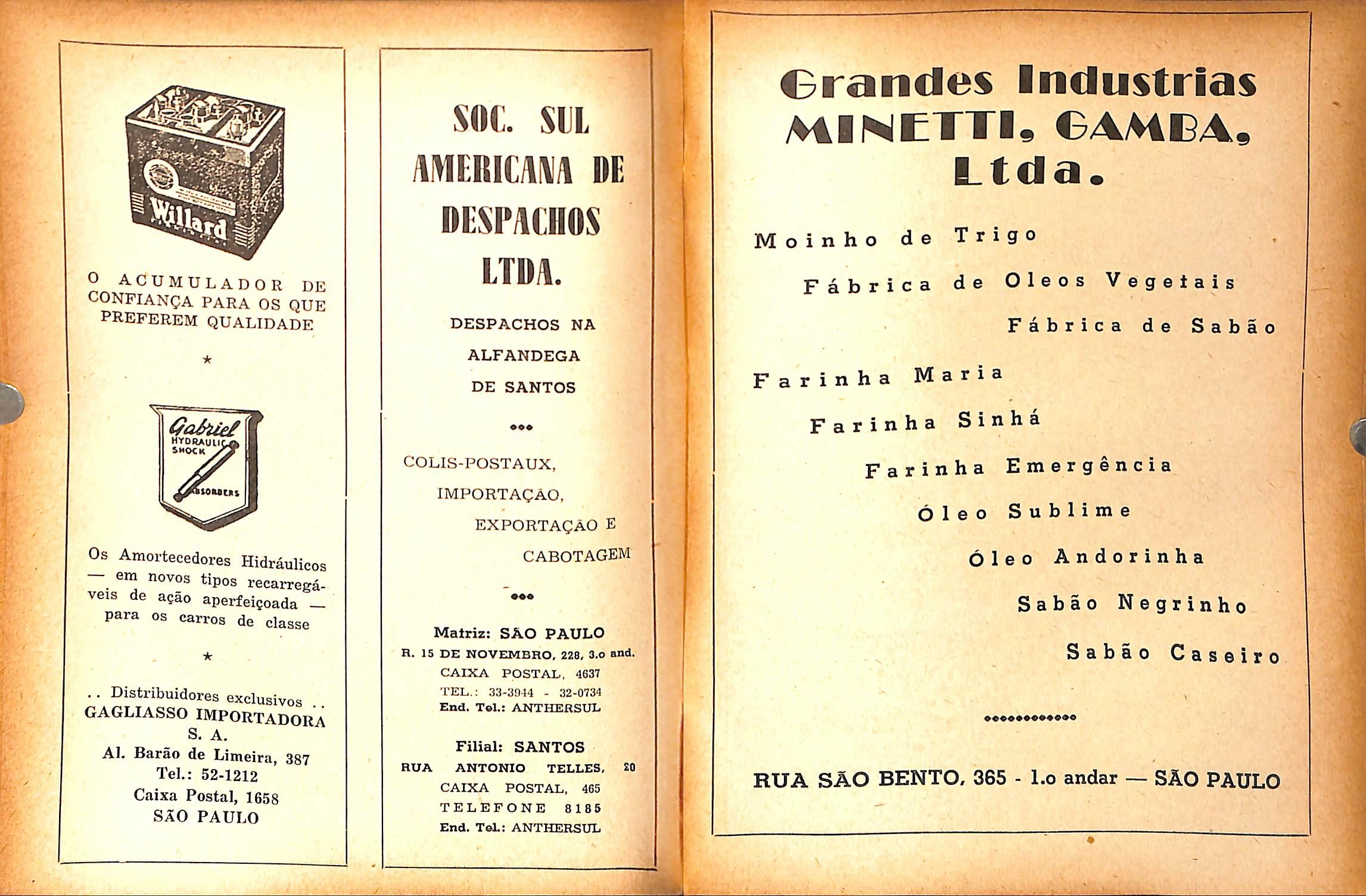DICESTO ECONOMICO
soBosiuspíciosDB ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
01 FEDERAÇÃO 00 COMERCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S II M A II I II
Exporíaçào de minério de forro Glycon de Paiva
Alguns princípios e problemas do planejamenio econômico Roberto de Oliveira Campos
Cusío do vida no Brasil — Dorival Teixeira Vieira
A teoria do rendimento nacional e as despesas da comunidade
Nuno Fidellno de Figueredo
A pressão fiscal e a teoria orçamentária do déficit sistemático — Bernard Pajiste
A Sociedade Bandeiranle das Minas — Afonso Arinos de Melo Franco
Empreendimentos públicos
Salários — Lucros — Impostos — Aldo M. A2evedo
A agricultura e a técnica
Pedro Demosthenes Rache J. Testa
Calógeras — Luis Cintra do Prado
Síntese da História Econômica do Brasil

Roberto Pinto de Souza
Livros & Revistas — Aliomar Baleeiro e Roberto Pinto de Sousa
f
E
^ fW’ l i
Pifl.
li I* N.o 90 — MAIO DE 1952 — ANO VIII
DIGESTO ECONÔMICO
ESTA A VENDA
nos principais pontos de jornais no Brasil, ao preço de Cr$ 5,00. Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos a suprir qualquer encomenda, bem como a receber pedidos fie assinaturas, ao preço de Cr$ 60,00 anuais.
Agente geral para o Brasil FERNANDO CHINAGLIA
Avenida Presidente Vargas, 502, 19.o andar Rio de Janeiro
Alagoa,: Manoel K»p.ndnl„, aru II. 49. Maceifj.
Pra Hii
Amazonas: ARÔncla Froli.vi qu.n. S.-unuMUo. 29. Maãau.s
ça Po- .1. Ghintínbiu'. Rua 15 de Novi-mbro. lliS. Curitiba.
Pi rnnmbuco: íi JoíiCia.. «). Salvador,
Fcrn.n.ulo Cliinaglla. i ,.M dn ImpiTador, 221, 3.0 audar, K< rifc.
Jdíuii: cd.iiHlio lU. Tole, Toroslna.
r.io do Janeiro: Fernando ChlnagUa, Av IMcsidinlc Vargas, 502, 19.o ai.Uiir.

Rio Grande do Norte: Luls RomSo, Avciuda Tavares Lira. 40. Natal.
Goi^: Jofio Manari Goiânia.
Maranhão: Livrari-. n Juão Li.sboa. 114.Vo V.uTz?'"'-
nn. Rua Seten ta A, Rua
Mato Grosso; Carvalho, Cia., Pça. cia Repúbli
Minas Gerais: Joaquim Moss Avenida dos Anclradas Horizonte ‘uas,
Pará: Albano N Martins ves.sa Caniüos Sal
Rio Grnndc do Sul: Ròinente para Por to AIrcrc; Octavlo Sagobln, Rua 7 fl(> Selínnljro, 709. Porto Alegre Paia incals fora de Pôrlo Alegre* K.-maiulo Cliinaglia, R. do Janeiro.
Pinheiro S & Cia., Tra m
t 20. Cuiabá VelloRo, 330. Belo
Santa Catarina: Pedro Xavier & Cia Rua Felipe Schrnidt, 8. Florlanóp!
Sao Paulo: ,í.es, 85/89. Belé .
Paraíba: Loja das Revistas R,,'. Ho rao dc, Tnunfü, ãlO-A, Jiião
A Intelectual. Ltda Vlarli-to Santa EfigCmia. 281. s, Paulo.
St‘rqipe: I.ivraria Regina Ltda.. Rua ).m Pcssi>a. 137. Aracaju.
Território do Acro: Diógenos de 01. vi-ua. Rio Branco.
O
M
i
COMPANHIA NACIONAL DE INVESTIMENTOS «CNl»

Capital
CONSELHO DIRETOR
Cr$ 50.000.000,00
Presidente Vice-Presidente
Prof. Dr. Benedicio Monienegro
— Rogério Giorgi
DIRETORES EXECUTIVOS
Presidente Int.°
Superintendente Int.° Diretor Diretor lnt.°
— Dr. Urozimbo O. Roxo Loureiro
— José Floriano de Toledo
— Jair Ribeiro da Silva
Dr. Olavo de Almeida Pinlo
CONSELHO TÉCNICO
/
Dr. Francisco Prestes Maia
— Dr. Fernando Rudge Leite
— Ernesto Barbosa Tomanik
— Jaeques Perroy
CONSELHO FISCAL
Membros efetivos
— Dr. Carlos A. Carvalho Pinto
Prof. íris Miguel Rotundo
Prof. Dr. Jairo de Almeida Ramos
— Horácio de Mello
%
Telefone: 35-1197
K.r'
r V'r
í
V \
t ■V
i
a i
— Miguel Ethel Alexandre Hornstein !●
Presidente
l \
Suplentes
SÉDE SOCIAL
Rua José BonifáciO/ 209 — 6.0 andar — (Edifício Brasília)
SAO PAULO
não devem faltar os aparelhos sanitários
SOUZA NOSCHESE
c»obocidos POIQU9 eõo os mais pstfoitot
VISITE NOSSAS EXPOSIÇÕES
Em nossa Io /a:
Rua Marconi, 28 - Tel. 4-8876 - Sâo Paulo
soç. ÁN. çpr^Àçip.B IÍNDÚSTMÁS NOSCHESE
IIHDAS COltt
OUtASlLIOAOI
riBote: B. Ort^l^ 4S7 -T*L 9-S3»4 -6.Poulo- a Jade Passeo. 13B-T*LS0U Sontos '●‘S X5. BEPBESENTANTESi
São Paulo - Molriz: Rua lulio Riboiro, 243-Tol. 9-1164 ● C.PoatoL 920
VrretXEIRA & CIA. ITOA. Bao àlacbusle. 41

AIBEBTO NiCBO 6 CIA.
LINKAt SflMItAt - RIO DE lANEIBO Baa Or. Murlsy - C0RITI8A
.V
.Ji
DAS ^ÍVl^^ÁDES ÇOMERtlÃIS
£ através das atividades do comér*
cio que os centros consumidores se abastecem dos produtos da indústria c da lavoura.
Amparar os legítimos interêsses do comércio, proporcionando-lhe os
recursos indispensáveis ao desempenho da tarefa que lhe incumbe, é coopepara o engrandecimento do país. rar
O Banco Mercantil de Sao Paulo orgulha-se da contribuição que vem dando ao desenvolvimento das ati vidades mercantis.

oo
j \ I íTI ^ L /» 1
I
\ Banco Mercantil db SAo Faubo S.A; CAPITAL E RESERVAS — Cr.S 180 000.000,00 MoIrU] S. Paulo - 8. AUam PantaoSo, láS - Prédio Goilao VldlQol (Fondodor)
DIGESTO ECOSliimCO
I lUIIBI OOS «KÚCIDS RUH FIIIM» KIMl
Pub/jcpdo sob ot «uspícíoi da ISSOCIAÇAO CQMERCIALDE SAO PAULI
● do fEDERtClO DO COMÉRCIO 00
ESTADO OE SlO PAULO
Dirolor superinlcndonlo: Francisco Garcia Baslos
^ Diretor:
Aníonio Gonlijo do Carvalho
O IH;<cí«to E4;onóniiv4)
piil)Iicará no próximo número:
A SOLUÇÃO DO PETlUiLKO - Glvc-on cio l^iiva.
dischiminjaçao
Aliomar Halcoiro. DE RENDAS %
DIALÉTICA E METAFÍSICA
A direção não í. pelos dados , cujas devidamente citadas, conceitos emitidos nados.
SC r — Djacir esponsabiliza fontes estejam nem pelos em artigos assi-
Na transcrição de citar o Econômico. nome artigos pede ; D i g G a i o -se do
Aceita-se intercâmbio cações trangelras.congêneres com publinacionais e es-
assinaturasDigesto Econômico
Ano (simples)
■' (registrado)
Redação e Administração:
Bua Boa Visla, 51 _ 9,0 andar
Telefone: 33-1112 — Ramal 19
Caixa Poslal, 8240
São Paulo
Menozes.
PAR'ITCIPAÇÃO DO empregado

NO LUCRO DA EMPRESAsliington Albino de Sousa.
O HEJUVIÍNESCÍMENTO das TER
RAS VELHAS - Jcisó Testa. ]
V
u i y
●j
V
f.
f f'
*í-
Número do mês Atrasado: Cr$ 50.00 CrÇ 58.00 CrS 5,00 Crç 8.00 íl - fc’ U'
I.' r J d > .●s irifi
I
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO
 Giacon* oe Paiva
Giacon* oe Paiva
^OMPUK-Nos. de início, agradecer aos ^ moços estudantes a hom-a da in timação que nos fizeram para rela tar-lhes, e a esta augusta assembléia, no seio dêste vitorioso Centro rais Rego”, a atual conjuntura de idéias sôbre os problemas de expor tação de minérios de ferro e de man ganês do Brasrl.
O nome do patrono do Centro e ao murmurá-lo ungimo-nos de sau dade, admiração e respeito, — remo ça-nos de vinte anos: lado de Luís Flores de Morais
Mo- U vislumbramonos ao
Rêgo, no inesquecível ambiente do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, jovem aprendiz de geólogo, bebendo embevecidos da toi-rente de idéias que dêle defluíam.
f guda inteligência, assombrosa me mória, operosidade incansável, dediCiência, ao Brasil e ao ser-
t
I
a caçao a viço público; do indivíduo, resta-nos j*. lembrança do um homem bem pioampla, cabclCH lisos, olhos tristes, nariz um sondso vincado de
porcíonado, fronte pretos e delicado, e
amargura.Dava a imprc.ssão dc andar em panhia de misterioso desgosto com_ antigo, ao qual, por fim, fatigado, se afeiçoara, mas' que, entre quase
os homens, o mantinha em guarda, perene atitude de alerta, qual em índio no jangal, qvie cauteloso aus culta os rumores da selva, buscando rumo da senda segura. o
"r vi
no re c e»?'
cola Politécnica, no convívio dos dis cípulos esbarrou, afinal, com a fe licidade e a tranquilidade que debal de alhures buscara, percebendo missão como a de um Derby redivi^ para, e pela segunda vez, implan tar uma escola de geologia no ânia-1 go desta cidade superlativa. .-jj
Provas de
sua vo que realizou o que 0
fico
destino lhe reservara são o magnísurto de estudos sôbre Ciências da Terra aqui surgido, e este útil e vigoroso Centro, fadado a sobrevivei para glória perene do excelso pa4 trono. ^
^Consertam-se dois motivos para nao cabalmente cumprir o progra^ ma desta noite. Não será tratado manganês, dada nossa incapaci^ dado de ainda mais reduzir a discus-j são do problema do exportação de minério de ferro. Mal nos foi poa.^iJ
o
J I .p \ FER
ff-
P;
O ”Digesto Econômico" publica neste número, eni primeira mão, a notável conferência que o brilhante geólogo eco\ nomisto Chjcon de Paioa proferiu Centro Morais Rego, da Escola Politéc nica de São Paulo. A Direção da Re üisftí vê-se contudo, impossibilitada, pc la falta de notas taquigráficas, de produzir os debates que se seguiram ao tórTiiino da conferência, em que o ilus tre uberobense, pela vivacidade na ré plica e segurança nos conceitos, eviden-, ciou, ante um auditório de escol tusUisla, a sua profunda cultura e ful gurante tnfe/tgéncífl. . ! ●f í
De Morais, ficou-nos na retentiva de uma grande cultura, a certeza
Em São Paulo, no âmbito da Es-
í. vel enquadi'á-la em prazo compatir vel com os limites da palestina. Tamf bém, acham-se em curso cortas negoquais emprestamos coNão ciaçoes, as laboração.
mendável versar o problema de piiblico, antes da conclusão daquelas.
nos pareceu recosangrar »e-
Secular é o propósito de a província ferrífera de Minas G rais para aproveitar-lhe o niinéri(j t● seus produtos, mediante transporte até o mar.
dc- \’ia.s
oce. , fêz 9 r j.j correr o primeiro I gusa fundido no Brasil, de um alto y forno com nove metros de altura
Em 1815, no vale do Rio D , cabeceiras do Santo Antônio, ao pé ^ do Morro de Gaspar Soares, a 125 k a sudeste do Tejuco, um minei● ro do Itacambira.ssu, bacharel de I», Coimbra, ex-aluno da Escola dc QuíW Escola de Minas Y de Freiberg
4
Não esborrava ai a imaginação'tie Manoel Ferreira da Câmara Bitten
,S4. Intendente d Distrito Diamantino: zer navegável
países
o pretendera fao Santo Antôni * o, e por ele baixar e pelo Rio Doce do jeito a exportar ferro para vizinhos.
arealizado
neste século, enquanto aumentav nao população.”
previra com juízo o fundador da ^ geologia do Centro de Minas; em 1831, liquidava-se o acervo da Fábrica de Ferro de Gaspar Soares.
1888, no crepúsculo do Império, surgia como uma promessa do que ? estava por vir, em local sugestiva^ mente crismado Esperança, no Rio i; t

das Vellias, o primeiro alto forno na bacia do São Francisco, tf>n(dadas em 24 horas.
para seis
Nesse instante, o relógio do tempo marcava ti-ês séculos da tentativa dc Santo .\maro, <-apitania de São Paulo.
Para entendimento do que ora pre sumimos deva SCI- a política
nal no que concei ne à alienação dativa de um l)om mineral minério de feno, sulta ao nosso passado do acertos e de erros no lidarmos tj-incado i)roblema.
nnciogracomo 0 convem uma concom èsse ina com o ro.
Até o princípio do século XIX, mineração no Brasil apenas buscftva ouro e diamantes. 0 interesse por outros minerais foi despertado pelo Condo de Linhares que, desde 1799, cuidou de planos relacionados surgimento de fálnncas de fer Eis as datas mais significativas da história do aproveitamento de.mi nérios de ferro brasileiros:
1.811:
O Govêrno contrata o téc nico alemão, Barão Von Eschwege, para despertar a indústria mineral no Brasil.
1815:
Inaugura-se a fábrica do
Intendente Câmara. Cerca de 3 to neladas de ferro são entregues, nesst* ano, ao mercado de Diamantina. Corre o gusa em Ipanema, Província de São Paulo.
1818;
1875:
O Governo Imperial, pelo decreto 6.026, de 6 de novembro do 1875, cria uma Escola de Minas Província de Minas Gerais, e esta belece a Comissão Geológica do Im pério, com Charles Fredevick Havtt e Orville Derby.
na Inicia-se a exportação do manganês do centro de Minas pela Estrada de Ferro Central do Brasil.
1894: . i L a.
Ol(.KST<) |*]C(>NÓM tfi (i
Vinha de longe o desapreço de Von Eschwege pelo Intendente: agiu irrefletidamente, Seu plano gigantesco X- çar no papel. Não t i’
:
‘Câmara resmungara; é fácil de tr será
a Só em
Diorsto Er.oNÓ^nco
1901: Funda-se a Companhia trada de Ferro Vitória-Minas. sob a direção dos engenheiros Teixeira Soa res e Pedro Nolasco. mente concebida iiara cobrir o traje to Vitória-Peçanha-Araxá.
Fora inicial-
1907: Cria-se o Serviço Geológico e Mineralügico do Brasil, com Orville Derby.
1908: Gonzaga de Campos, geologo do Serviço, procede ao reconhe cimento da região ferrífera.
para 30 t diárias de produtos como ; condição de exportação. Foi êsse o primeiro gesto de vinculação do pro blema de exportação de minério ao da siderurgia.
1910: Derby faz um digesto de 9 ;
trabalho resultam dois mapas sôbre distribuição das jazidas de ferro Quadrilátero do Encontra como
Desse a o manganês do Centro de Minas”.
reserva
4 biliões de toneladas de
minério de 65Çí- e 1,74 de 507c.
1909: A mudança de traçado da Vitória-Minas é autorizada pelo de creto 7.733, de 30 de dezembro de 1909, para buscar Itabira, eletrificar tôda a linha, e anualmente transpor tar 3 milhões de toneladas de miPor transferência de néi-io de ferro.
controle da via férrea passa do grupo inglês Brazilian açoes o às mãos
Hematite Syndicatc. Os anos de 1909 e 1910 são fundamentais na história do aproveitamento dos minérios de ferro no Brasil, a saber:

páginas do relatório de Gonzaga dos < Campos e envia ao ll.o Congresso Intoimacional de Geologia reunido em Estocolmo, Suécia, um famoso tra balho “The Iron Ores of Brazil”. Divulgado o trabalho de Derby nos jj Anais do Congresso de Estocolmo, europeus e americanos, em seguimen to ao gesto do Brnzilian Hematite, atiram-se às jazidas do Quadriláte ro: estes compram vários depósitos no Vale do Rio Doce, como Periqui to, Esmeril, Alegria e Morro Agudo, ^ fundando a Brazilian Iron and Steel ■ Corporation; os alemães, os depósi tos da Fábrica de Ferro, Córrego ● do Meio e Córrego de Feijão, pela Brasilianische Bergwerk Gesellschaft; os franceses os depósitos de Janga da e Morro do Ferro pela Compagnie de Mines de Fer de .Jangada.
a para
) Aquisição pelo grupo inglês do controle de uma estrada de ferro exportação do minério;
b) Aquisição, pelo mesmo gr po, das principais jazidas da ba cia do Rio Doce, pela spma de
De outro lado, a St. John Del ReyMining Company começou a integrar o que hoje é dos mais vastos lati fúndios mineiros do mundo: a Cia. de Mineração Nova Limense. Há ● dois anos, contratou esta os servi- . ços de um famoso geólogo inglês, expeiâinentado na avaliação dos inien- ^ sos depósitos de hematita das Pro víncias de Orissa e Bihar, no costa do Bengal Dr. F. G. . a, na índia, o
uPercival, para medir-lhe as reser vas de minério. 800 contos.
Todavia, o Ministro da Viação, o engenheiro de minas Francisco Sá fêz incluir no citado decreto uma cláusula obrigando o grupo a mon tar um estabelecimento metalúrgico
Morro Velho possui no Quadrilá tero, uma área de 600 k2, onde se encravam, entre outros, os depósi tos de Águas Claras, Barreiro, Ca veira, Motuca, Serra da Gama, Abó-
i
1
V boras, Galinheiro, Pico dc Itabira e B diversas jazidas na Serra da Moeda. A cifra encontrada por Percival |T para todos os tipos de minério, cubados até a profundidade de 33 m, foi f. de 3.299.000.000 de toneladas, isto é, õ milhões de toneladas por qui^ lômetro quadrado de terreno examinado.
se jn-opoc.
guerra dc 191*1
Com a aproximação da'’ planos entram O.S
eni hibernação.
1916: Os interêsses ligados à Vi-. tória-Minas esforçam-se o guem que o Governo transforme em facultativa a obrigação contraída, em 1909, de constituir uma usina meta lúrgica para 30 toneladas diárias.
conse-
Sendo governamentais as vias de 1^. ti-ansporte, o significado dessas aquisições perdeu todo o sentido geopo_ lítico, porventura a elas atribuído M.' pelos interesses originais, volvendo Bt, às mãos do Governo ou de Br brasileiras.
Não é raro surpreender curteza do vistas dos inversionistas estrangeiros no campo da mineração entre nós. Éste exemplo é típico.
pessoas
Reduzem-se, hoje. a certas pro9 priedades da sucessora da BrasiliaV msche Bergwerk, a Companhia d = Carvão, ou da Companhia de Mineração Nova Li mense, desaproveitadas falta de transporte.
1911:
e 1ambas por E’ autorizada
' no Brasil pelo decreto n ° 87«7 a 16 de junho de 1911, a Itabira lr„„ Ore, Co., sucessora do Brazili

I matite Syndicate, de quem adquire
a funcionar an Her estudos para a enseada
■ a via feijea e as minas de Itabira Percebendo inconvenientes no traca' r do da ferrovia com terminal em Vi' tória, a Itabira contrata . um traçado que buscasse de Santa Cruz, elaborando-o em ► excelentes
■.
ano.
no a
Finda a guerra, a Itabira Iron Ore contrata os serviços do sr. Percival Farqhuar, promotor
1919: ameri
cano, para levantar os capitais neces sários à construção do projeto de exportação de minério.
No mesmo ano, o Governo de Mi- ● nas Gerai.s, ansioso pela criação da siderurgia em seu território, pela lei 750, de 23 de setembro dc 1919, ago em sentido contrário, estabelecendo oneroso imposto sôbre o minério de exportação e pràticamente liberan do aquele que no Estado fôsse con sumido.
1920: Como consequência, a Itabira Iron Ore Company Ltd. firma com o Governo Brasileiro, em 29 de maio de 1920, um contrato de explo ração de minério de ferro, vinculan do-o à instala ção de uma usisiderúrgicapara 160 mil to neladas de dutos, zindo-se, portansituação anterior negocia da em 1909. Con- ’ tra êsse contra-,?
r to, tendo em vis-*
● 4 \^JÍ 8 DtGKSTO EcONÒ.NJlCf^
/
i-'-
¥
● diçõeg ' de modo a trans portar 6 milhões de toneladas por Esbarra y. y.
contécnicas,
na proreproduto, a com empecilhos levantar ca pitais pai’a empi’eitada que L u ^
ta certos privilégios nele clausulados, dcsencadeia-se unia campanha sem paralelo, anos para da Itabira, com os do Estado de MiGerais, e contornar as dificulda des surgidas no caminho do seus proFinalmente obtém, em i:
Farqhuar luta durante 8 harmonizar os interesses nas 12 pósitos.
- de novembro do 1928, o Decreto 5.568, que lhe faculta a execução do contra to de 1920, com modificações:
A crise econômica mundial impede, a partir dêsse ano, que FaiEstados Unidos, Itabi-
os ra via férrea
1929: qhuar levante, nos fundos de que precisa a Iron Ore Co. para retomar seus planos, em particular projetada pela Comissão Russel, h gando o Quadrilátero Fernfero ao pôrto de Santa Cruz, na foz do no Piraquê Assu.
O Governo Provisório, pelo 1931: - .
Decreto 26.799, de 16 de dezembro de 1931, suspende todas jazidas minerais ate a Código de Minas.
as transaçoes sobre elaboração de um Em 10 de julho dêsse ano 1934: lei estabelece que os mmerios e do subsolo constia demais riquezas tuam propriedade distinta do solo e que o aproveitamento das jazidas dependa de autorização ou concessão federal.
Nessa data, o Brasil produzia cêrde 60 mil toneladas de gusa e 7 mil toneladas de fninéca exportava de ferro. no
O Decreto-lei 1.507 de 11 1939: de agosto de 1939 declara irrevogàvelmente caduco o contrato Farqhuar. Constituiu-se a Companhia Brasileira de Mineração e Siderur gia S/A, de interêsses privados, com modesto capital de 2 milhões de

1940: o
minas substitui inteiramente.
cruzeiros, <iue absorve o acervo du Estrada de Ferro Vitória-Minas. Ad quire, também, o direito de acesso às da Itabira Iron Ore a quem Completa, com uma rodovia de Drumond a Itabira, a indispensável ligação da fer rovia com as jazidas de ferro e inau gura, no Vale do Rio Doce, a corrente exportadora de minério, mediante transporte misto em caminhão e trem de ferro. Providencia, ainda, o silo' de Atalaia, em Vitória, para faci litar o embarque de minério e bara teá-lo.
Realiza, por fim, 34 anos mais tarde, ainda que pi*ecàriamente, os propósitos revelados em 1908-1909 pelo Grupo inglês, divulgando no ex terior a excelência do minério do Rio Doce para fins de refino, preparan do portanto o caminho para as nego ciações intergovernamentais que se desenrolaram no ano subsequente.
1941:
O Governo Federal autori za a constituição da Companhia Si derúrgica Nacional, para construir e operar a Usina de Volta Redonda, desvinculando, portanto, e formal mente, o problema da siderurgia do problema de exportação, a êle liga do de 1909 a 1939.
1942:
O Brasil firma com os Es tados Unidos e a Inglaterra os con tratos denominados Acordos de Was hington, em 13 de maio de 1942, as sim concebidos:
a) O Brasil encamparia os bens da Estrada de Ferro Vitória-Minas para X’emodelá-la e aparelhá-la, ten do em vista o transporte mínimo de 1.500.000 toneladas de minério de ferro;
b) Melhoraria s completaria o cais '■ de minério construído no pôrto d«
● f ^ 0 Dic.ESTO Econômico
l
Minera- I Vitória pela Companhia óe ' ção e Siderurgia S/A;
c) Organizaria uma sociedade de , economia mista para explorar as mi nas de Itabira sob a direção conjun ta de brasileiros e americanos, com apoio financeiro do Export and Iniport Bank;
ministro do Estado das Relações Ex teriores, e o subsecretário de Estado americano Sumner Welles
sião da Conferência de Chanceleres, reunida no Rio de Janeiro em fevei*eiro.
as
d) Receberia, da Inglaterra, propriedades e as jazidas que a Itabira Iron Ore possuísse, dessa com panhia adquiridos pelo governo bri tânico, para cessão graciosa ao Go verno brasileiro;
por ocaForam ultimadas pelo Minis tro da Fazenda Artur de Souza Cos ta e o sr. \'alentim Bouças. Excedeu a cpialtiuer expectativa o espirito de demonstrado polo
Peicival Farqhuar para a realização dos acordos.
que êsse incan.sável homem de ação que é Percival Farqhuar.
deve a
colaboração sr. Disse-nos de uma feita o Embaixador Oswaldo Aranha que por êste e outros gestos o Brasil um dia se dará conta do tributo ^ e) Distribuiría, por três anos, j produção transportada entre os gof inglês e americano, ao preço j| de CrS 100,00 por tonelada, com reW tençao de Cr.S 15,00.
Em suma, a Vale do Rio Doce inteiramente substituiría a Itabira Iron Ore e a Companhia de Mineração e Siderurgia S/A, no papel que essas tendiam a desempenhar em impor-
'● tante setor da política econômica
na¬
O decreto 4.532, de l.o de julho de 1942, constitui a Compa nhia Vale do Rio Doce S/A, com o capital inicial de 200 milhões de cruzeiros, em obediência ao dispos to nos Acordos de Washington.

1948;
1912: Instala-se, em novembro, no Bio de Janeiro, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de Estudos Técnicos e Econômicos sob cional.
mais favorável na I?-
JJ Nenhum desfecho «;● ao Brasil poderia ter ocorrido W- história desses 35 anos de indecisão de erros e de alguns acertos no lidar com o aproveitamento da riqueza ferrifera da bacia do Rio Doce, do ÍJ que a assinatura desses acordos para qual muito contribuiu
a
a pressão
í da guerra sobre os países interessa ra. dos em minério para refino. O Brasil entrou definitivamente na posse de uma via férrea da mais alta imporÍV tância, de instalações portuárias para embarque de minério, além de parf* cela substancial de nossa riqueza I mineral.
* As negociações foram entabuladas lo Embaixador Oswaldo Aranha,
pe
, - , - a presi¬ dência dos srs. John Abbink, do lado americano, e Otávio Gouveia de Bu lhões, do lado brasileiro, resultados da Comissão figura o pri meiro assentamento formal de política brasileira sôbre exportação do minérios de ferro e manganês.
1951: E' criada a Comissão Mista B
Entre os uma rasU-Estados Unidos de Desenvol vimento Econômico, sob a presidên cia do Professor Ari Torres do lado brasileiro, do Embaixador Merwin Bohan do lado americano, propósito essencial o preparo de E’ seu pro
jetos relativos à reabilitação do sis tema ferroviário e portuário do Bra sil, encarados sob o ponto de vista técnico e econômico, redigidos à fei-
r 4 Duitsro Econômico
5
lí
1 n
ção requerida pelos bancos mutuantes de Washington.
Negociações levadas
Washington, pelo Ministro João Ne ves, durante o trabalhos da IV Reu nião de Consulta, abordam a possi bilidade de financiar o desenvolvi mento econômico do Brasil nos se tores básicos, na parcela dólares das despesas, por bancos governamentais de Washington. Foram posterior mente concluídas, na capital americaHorácio Lafer.
a efeito, em na, pelo Ministro
lei 1.474, de 26
E’ promulgada a de novembro de 1951, sobre veapare lhamento econômico, criando fundos financiar a exeem preparo pela em cruzeiros para cução dos projetos Comissão Mista (Plano Lafer).

chegara a Subcomissão de Minério* da Missão Abbink — Bulhões reu nida no Rio de Janeiro até feverei ro de 1949. Tanto o dr. Cotrim, co mo nós mesmos, éramos membros da Subcomissão, cabendo-nos o en cargo de relatar o assunto de expor tação de minério de ferro.
Os pontos de vista brasileiros, al guns do quais aceitos pela Comissão, figuram in totum na exposição do relator de Subcomissão de Trans portes, com as várias modificações que nêle foram introduzidas pelo plenário da seção brasileira da Sub comissão, sob o título “Princípios para orientação das negociações so bre exportação de minério de ferro brasileiro e seus produtos”, a seguir transcritos:
1952: tribuindo o primeiro
A Cia. Vale do Rio Doce
S/A, sob a presidência do Coronel Juraci Magalhães, fecha o balanço de 1951 com um lucro líquido, no exercício, de Cr$ 70.946 038,80 disdividendo na vi-
da da sociedade.
Pela primeii*a vez na história da exportação de minério de ferro no Brasil, a quantidade de hematita exportada em um ano ultrapassou - milhão de toneladas.
I — Atitude do Brasil em relação a exportação de minério de ferro
O Brasil considera suas impor tantes jazidas de minério de fei-ro, principalmente as do centro do Es tado de Minas Gerais, como capazes de acelerar-lhe o desenvolvimento econômico e social, desde que racio nalmente aproveitadas.
um tudos dos do Brasil, o lúrgicos Bittencourt Cotrim aqui abordou, com êxito, o problema da relação tade fretes entre bens prima-●odutos acabados e semi-acaângulo do minério de
Por ocasião da III Semana de EsProblemas Mínero-Metadr. Ernani
rifáina nos e prbados, sob o ferro. '
Como introdução à esclarecida ex posição que fêz, tocou no tema que foi distribuído pela direção do Transcrenos Centro Morais Rêgo”.
U veu
, inicialmente, as conclusões a que
Entre as formas de aproveitamen to racional, julga que a constitui ção de substancias correntes expor tadoras de minério in natura e de pi'odutos semi-acabados de ferro, é das mais indicadas.
Nesse sentido, está disposto a pro mover ou encorajar o estabelecimen to de relações comerciais com emprêsas norte-americanas, produto ras, distribuidoras ou consumidoras de minério de ferro, tendentes à con cretização desse objetivo.
as
2. Sob o ponto de vista da expor-
11 Dioesto EcoNÒ^^co
1.
exro.
'. tação, a região ferrífera de Minas jw Gerais subdivide-se em duas zonas: uma, tributária da Estrada de Ferro J Vitória a Minas, que serve ao pôrtu de Vitória, podendo atingir o litoral í do Espírito Santo, em Ara Cruz ( '' Santa Cruz); outra', tributária da &. Estrada de Ferro Central do Brasil, J- que serve ao porto do Rio de Janei podendo também atingir o litoral do ^ Estado do Rio, na enseada de ItaF' curussá.
Relativamente à Estrada de Fer - Vitória a Minas, grande f jazidas de minério de ferro por ela i v". da C„.nl Kí ““ ” S/A., tum.
tória. Êsse projeto, pareialmentc , estará concluído em construído, 30 meses, após inversão total equi valente O projeto não necessita a 75 milhões de dólares linnncia
mento
.
achando-se conveniente-
mente contratado até a termina ção.
b) Exjjortação adicional de 1.500.000 toneladas pelo pôrto de Vitória, utilizando a mesma via férrea do projeto (a),
e) A ampliação do projeto ante rior custará 17 milhões de dóla res, pode ser contratada ífrupo financiador interessado minério de ferro, podendo cluída em três anos.
o
I P‘-"Pnetária da via férrea; além. ^de concessionária do embarcadour t.de mineno em Vitória, a 600 k™às ^ prmcipa.s jazWas da Companhia.
? . jazidas de miné-
. rio de feno que marginam a Estrada de Perro Central do Brasil são de ^ propriedade privada, distam gí em média, do pôrto do Rio de
1'0 parte das 500 k, Janeit
ro, que opera sob administração independente da via férrea
exportação cacontraqual passível Traduz :i “Se a ua forma 1 necessárias
com um em ser conmaiores quantidades
Exportação pelo pôrto de Ara Cruz de
, até o maximo de 30 milhões do tone ladas anuais de minério de ferro e seus produtos, mediante apareIhamcnto das minas entre Itabira e Bolo Horizonte, para integral utihzaçao do minério aí existente; construção de 500 k de via férrea de comprimento
f. As situações diversas acima des t: critas fazem com que a, de 1,60 Pi’cferencialmente para transporte de minério; c construção de um embarcadouro em Ara Cruz.
m. de bitola i por uma ou outra dessas vias sei-i y. objeto de programas separados pazes de encarar problemas tuais diferentes, cada de soluções próprias, diferença, essencialmente, de resgate das inversões como adiante se verá.

O projeto poderá ser executado e concluído no prazo de cinco anos. A inversão total a seis necessária para essa realização é de 175 milhões de dólares.
,
Três soluções são possíveis:
) Exportação de 1.500.000 toV. ncladas anuais pelo pôrto de Via
As negociações relativas jetos b e c, anteriores, i às seguintes condições gerais:
aos proobedecorâo
a) As minas, ás vias as instalações portuárias existen tes a construir
férreas e ou aparelhar, ^
mn 1,1 . I 12 DtCP>>l() EcONÓ.NitCO
i
-
uma
II — Exportação pelo litoral do Espírito Santo
III Exportação pelo litoral do Dis¬ trito Federal integrando o patri- continuarão niônio da Companhia ;
Estado do Rio
a tia
b) Os financiadoi*es, sob contrato longo prazo, terão plena garan de suprimento de minério e do reembolso de capitais, median te taxas cobradas sôbre o preço de venda FOB de cada tonelada de minério exportado, sob qual quer forma ;
ficará dis') Aos financiadores, ponível, mediante fretes especiais, parcela substancial de espados trens de miné-
c uma de retorno rio para ço transporte de carvão destinado a ou estrangeiros, coque beneficiar, in situ, o minério que convenha exportar como tal, assim facilitado o estabelecimende usinas de be-
nao to e a operaçao
1. A segunda via de exportação de minério de ferro poderá ser prepa rada em prazo de dois a três anos, exportação de 10 milhões de para a toneladas anuais de minério de ferro e seus produtos, mediante o dispendio de 9 milhões de dólares de insta lações portuárias em Itacurussá, ou Rio de Janeiro, 12 a 16 milhões de dólares na via permanente da Estra da de Ferro Central do Brasil, con forme a solução adotada, e 27 mi lhões de dólares de material rodante
para a mesma estrada.
neficiamento de minério, derúrgica inclusive de proprieda de dos financiadores, que mercadoobjetiex-
ou sivem produzir para o terior, assim como facultado o su primento parcial do mercado bra sileiro de carvão estrangeiro ;
2. A Estrada de Ferro Central do Brasil está disposta a aceitar finan ciamento para aparelhamento de suas instalações de transporte, nas seguintes condições gerais:
Companhia Vale do Rio DoS. A. se reservará uma parcede capacidade de tráfego da via férrea a ser construída e da pacidade de embarque de minéAra Cruz;
d) à ce la ca no em
e) Será facultado aos financiado res participar dos estudos para aparelhamento da via férrea e construção do porto, assistir e cooperar* na orçamentos, sendo-lhe assegurado igualdade de condições, pre-
feitura dos projetos e em ferência para execução dos serviassim o desejarem. ços, se
a) O investimento para o prepa ro e aparelhamento da ferrovia, para habilitá-la ao transporte de 10 milhões de toneladas anuais de minéi*io de ferro e de seus produ tos, será resgatado nas condições de prazo e juro que forem combi nados, à medida do transporte de minério, mediante restituição de parte do frete cobrado, nas condi ções contratuais que forem esta belecidas, e enquanto durar o resgate;
b) A Estrada de Ferro Central do Brasil poderá examinar investimentos, apenas destinados ao preparo para a exportação dessa quanti dade de 10 milhões de toneladas. Ne.ssa hipótese facultará a circu-
o caso de da via permanente

13 Digesto Econômico
I
lação, em seus limites, de trens de minério de propriedade do finan ciador, por cuja conservação será êste responsável, ficando a opera
i
condiçoes que forem contratadasc) O financiador da Estrada con tratara. livremente com os pro pnetarios de minas o fornecimento de minerio, obedecido vio de pleno queza ferrífer d) Â Estrada parcela da
restituição portuárias coipualniente reservada
, uma parcela da capacidade de embarque pai-a atender a ter-
f
1. k',
o criteaproveitamento da ria nelas existentes : se reservará uma
f que ao ter-
IV
1 .
ceiros. para
Qualquer que seja a modalidade adotada para a exportação de miné110 de fei-ro, esta se fará
nos limites
● e) Ao financiador, a Estrada segurará preferência e fretts peciais para utilização de retorno dos vista o transporte coque estrangeiros, suprir parcela do no do país.
ascs- r
do esp trens, tendo de carvão destinado
do tempo e quantidade a serem es tabelecidos e que deverão depender da importância da indu.strialização do minerio a ser feita no Brasil; igualmente niodahdade de será
cant''^ “ Marinha Mer- canto Brasileira participação na
aço em de minério do ferro assim como no retôr-
uma (í s Consumo inter-
rur^,.cas ou f que y
, minério não vel como tal, sob forma de bados ;
ou a minerio isam aproveitar uiretamente export
exportação seus produtos, no de coque ou carvão.
2. Admitindo Constituição Fedeexploração de minas por es trangeiros, mas determinando que o laçam por meio de empresas orga nizadas no Brasil, é consonância com
a ral a e necessário,
em essa que
0 ásô-lo semi-acamas que possa produtos u ^ - , exigência, a íoimaçao da receita bruta das portações e apuração do lucro líqub do de cada empresa sejam realizadas no territorio nacional.
f) Ao financiador participar será facultadc para aparelhamento vlf rea, assistir e cooperar na execu' çao de projeto e orçamento e'terá em Igualdade de condições, prefe’ rência para execução dos servi ços, se assim o desejar;
g) Princípios semelhantes adotado.s para

o dos serão o financiamento
( r-
As possibilidades da Venezuela e atenderem, com maior lacihdade, aos interesses americanos de se suprii-em de minério de ferro, tornaram-se mais promissoras de 1949 em diante, impedindo que ne-
M Dicksto Econômico’
das obras portuárias a serem fei tas pelo interessado na aQuisição de minério do ferro c seus produtos, fazendo-se o res^fate de in vestimento mediante de paj'te das taxas bradas t r
ção dos trens a carpo da Estrada, mediante papamento das despe sas de circulação ° operação, nas
f'Oiidições aplicáveis quer da.s modalidades a (piHlsufforidas
2. n exportação adotada,
.ses zar-se.
ram-se no mesmo
sugeridas, pudessem materiali ● Fatos posteriores concertasentido, a saber :
a) A i-eabilitação da E. F. Cen tral do Brasil, orçada pela ComisMista Brasil-Estados Unidos, sao para cinco projetos essenciais, em Cr$ 1.074.171.015,00 mais USS 10.786.631,00, fundos do Plano Lafer e sera feita com os de bancos mutuantes de Washing ton. Cumpre acrescentar a soma de USS 25.000.000,00 para aquide 120 locomotivas Diesel siçao elétricas, em curso de fabricação. O projeto objetiva a substituição vapor pela tração Assim, a da tração diesel na bitola larga, criação de uma capacidade de tráexportação de miné-
a fego para rios sei'á o natural subproduto da ● dos projetos, o que disfinanciamento privado pa'execução pensa ra êsse fim específico.
hoje Jaceaba (EFCB) até Augus to Pestana, no tôpo da Mantiquei ra, com extensão de 240 k.
correia
b) Construção de uma transportadora, com comprimento, de Augusto Pesta na a Angra dos Reis, passando por Volta Redonda.
A respeito de correias transporta doras, lembramos que a Frick Coke Co., desde 1924, opera uma com 7 k de extensão, capaz de transportar 1000 t de carvão por hoi*a, a CrS 0,06 por tonelada, também, o projeto da Riverlake Belt Conveyor Line Inc., uma correia du pla, com 209 k de extensão, da bacia carbonífera de West-Virgínia até o Lago Erie, cruzando sôbre ^ Pensilvânia, de modo a permutar carvão por minério de ferro, à razão de 800 toneladas por hora.
As vantagens da solução da Rêde Mineira de Viação
120 k. de Relembramos, seriam;
b) Os planos de expansao da Cia. Vale do Rio Doce serão essencial mente pesas em tuantes de Washington.
financiados, quanto a desdólares, por bancos mu-
a) Possibilidade de movimentação, de Minas para o litoral, de 10 mi lhões de toneladas de minérios diversos, sendo 6 milhões para exportação, mediante percurso de 380 k até o mar, e 4 milhões para Volta Redonda e São Paulo;
Em 29 de maio de 1961, o Diretor da Rêde Mineira de Viação, ex-PreCompanhia Vale do Rio sidente da Doce, Dr. Dermeval Pimenta, ao GoFederal submeteu um memo- verno rial, aventando nova solução para o aproveitamento de minério de ferro dos vales do Paraopeba e Rio das Velhas, na bacia do Alto São Fran cisco, assim concebida:

a) Execução de uma ligação fer roviária eletrificada, de Camapuã,
b) Possibilidade de retorno até Jaceaba, de 2 milhões de tonela das de carvão mineral importado, para abastecer siderúrgico a ser criado no Valo do Paraopeba.
um novo centro
A previsão de gastos é de 12 bi lhões de cruzeiros e de 10% a ren tabilidade prevista.
Aquilo que Morais Rêgo denomi- i nou de Quadrilátero Ferrífero é uma região fisiogràficamente definível.
15 DictsTo Econômico
I
J limitada ao norte pelas Serras de Curral dei Rey, Piedade e Cipó; sul, pela Serra de Ouro Branco, cor rendo se^ndo um paralelo, de Con gonhas a Mariana; a leste, por eleI vações de Mariana e Santa Bárba a oeste pela Serra da Moeda.
ao
variável em ferro e fósforo, chapinha' c canga, pelos altos fornos deira.
São os minérios preferidos ^ a carvão do ma-
ses 8.000 lí2 de terra localiza-se a melhor parte da riqueza ferrífera fc ' de Minas. À feição de outliers jazem g ao oriente, Monlevade e Itabira
Dois terços do Quadrilátero tV drenados pelas
ra, Ne.ssao
. águas do Alto São
jj:, Francisco: Paraopeba e Rio das VeS l ^ oriental encrava-se na ®^"to Antonio, Piracicaba
e águas do Piran-
Uma classificação comercial dTs minérios de ferro de Minas, ainda que tentativa, deve levar em conta 4 duas variáveis continuas que lhes caracterizam a natureza: teor e coe- ,i O teor já considera, por ina proporção de sílica; a
Monlevade e
A rocha ferrífera, à qual se filia™ todos os tipos de minério de ferr™
-tablrito, produto de sedimenta », çao alternada de hidróxidos de ferro fc. e areia que hoje se apresentam sÒb ^ forma de especularita e quartzo. A ‘fS amplitude relativa das fases mint rais pode conduzir a rochas exclusi vamente formadas de quartzo; quart P zitos; ou de especularita titas lamelares nema-
rencia. ferência, coerência, distingue os tipos compac tos dos moles ou pulverulentos. Ou- ● tro critério subsidiário é a limonitização parcial ou total de minério que lhe acarreta o destino preferen cial para altos fornos a carvão de madeira: canga e chapinha, íi) O principal critério da subdi visão será o da aplicação: para alto forno de um lado, e para refino, de outro. Existe, certamente, muitas vezes mais minério para alto forno do
, possivel mente mais de cinco vezes.
minério quG para refino
ou compacta
1 .. .compactas; estas o lump ore dos fornos de refino- a ausência de coesão resulta em mi’né g- rios pulverulentos — jacutingas, ... J.. téria-prima para o preparo de sín3Í»' teres.

ma-
O intemperismo provoca dois tiJJ’ pos de minérios de superfície; ricos dágua de combinação, de composição
no, ou Entre os duros para
b) Entre os minérios de alto forcumpre distinguir os duros, imediatamente aplicáveis na indústria, dos pulverulentos, que dependem, pai*a sua utilização, de sinterizaçâo peletização.
rios em conjunto oscila de 65% 62%.
a í
í í i alto forno, os principais são itabirito e O teor desses miné canga. s. p o pau de coesão da rocha tamhém ; influi no tipo de minério; uma liT ficaçao intensa produz itabirito ■ ros ou hematitas s du-
c) Entre os moles, predomina jacutinga e aqueles minérios nuseados se esfarinham: friável e a hematita lamelar. minérios de 67%.
a que maitabirito Sâo
d) O minério para refino é a he matita compacta e, também, certas hematitas lamelares. 68%, bitolado entre 3 e 8”,
O teor é de com pro
porção de finos de menos de 1/2”,
V, Dir.KSTO Econ‘i7níh
r-,
í I L
i sr,;rx
*.e_o
I
i-
-
k
EL
ao pé das usinas onde c utilizado entre 10 e 12%. Esta parcela ompregam-na os americanos pai*a blendings com minérios de teor mais bai xo, carregando-a em altos fornos.
O mundo produz, anualmente, 240 milhões de toneladas dc minério dc ferro dc diferentes tipos. O valor pé das minas e dessa produção ao da ordem de 1 bilião de dólares. No páteo das usinas, possivelmente atin girá o dôbro dessa quantia. idéia do porte Para se ter uma dessas transações sobre minério dc uma comparaçao ferro. , sugere-se com os negócios brasileiros de cáfé, 800 milhões de ([ue não ultrapassam dólares por ano.
A quo parcela dêsse mercado i)ode o Brasil aspirar?
Atualmente, a nossa participação no mercado mundial de minério de ferro é inferior a meio por cento do mercado internacional.
Se, no futuro, as vias férreas pu derem transportar, sem prejuízo para nossa restante atividade econômica, 10 a 12 milhões de toneladas, pela Central do Brasil e a Vitória-Minas, vendas atin- conjuntamente, nossas giriam : 120 a 160 milhões de dólares.
8% dos negócios mundiais:
Se fôr critério de exportação su jeição estrita à nossa capacidade de utilização da carga mineral, possivelmente não de retorno de carvao
exportaremos mais do que 4 ou 6 mi lhões de toneladas, objetivo fôr o escambo de matériasrecurso a outras fontes
Todavia, se o primas, sem de receita de divisas, teremos que exportar mais do que isso, para ple namente atender às contas relativas à importação de carvão.
Em suma, essas considerações pa-
rocem sugerir quo 8 a IH milhões de toneladas devam ser o alvo próxi mo de nossos propósitos de exporta ção de minéido de fen*o. mente, a Suécia anualmente exporta entre 10 a 15 milhões, a Venezuela 2 a 8, com um progi^ama de expansão até 10 milhões, e o Canadá. espera produzir 20 milliões, das minas de Ungave Bay, no Labrador. condições, não ficaríamos mal colo cados ao lado da Suécia e do Canada. E' 0 momento pai*a dizer que, con siderada a exportação sob a forma aventada, nenhum complexo de com portamento colonial deve nos pi‘eocupar, tendo em vista o alto padrão de vida e o elevado grau de indus trialização de países como a Suécia o o Canadá, que se propõem a reali zar tarefas de exportação de bens pri mários que, a muitos espíritos bra sileiros, parecería degradante. Se exportarmos 10 milhões de to neladas de minério de ferro por ano, obteremos de 120 a 150 milhões dc dólares anualmente, isto é, um sex to a um sétimo dos nossos negócios dc café, e montante comparável, em bora inferior, aos nossos negócios de algodão.
Admitida a produção mundial de 160 milhões de toneladas de aço, e supondo que todo êsse metal se ori ginasse d© fornos Martin-Siemens carregando gusa líquido, o mundo necessitaria, para refinar essa massa de metal, cerca de 16 a 18 milhões de toneladas de hematíta compacta. Tendo em vista ser grande a par cela de produção de aço e ser o con sumo de minério inexpressivo, e ain da que uma parte substancial de mi nério para refino já pi*ovém de outra» fontes, e de outras provirá, com *

17 Dicesto ECONÓ^UCO
PresenteNessas
concorrência do Canadá e da Vene zuela, parece-nos que, para fíxar idéias, não se deva pensar, *nos pró ximos anos, em mercado para hematita compacta, brasileira superior 4 ou 5 milhões de toneladas.
Assim, a exportação concomitante de minério para altos fornos
a e im-
perativa, se o Brasil realmente de.seja exportar minério de ferro no mon: tante de 8 a 10 milhões de tonela' das por ano. Tanto sob o ponto dc vista da utilização plena de nossa riqueza ferrífera, como sob o ponto ^ de vista comercial, iniciar é indispensável
dólar por tonelada iii situ, desde que ■ sejam aproveitadas- as facilidades de transporte e portuárias que serão ' criadas para o apx‘oveitamento do manganês do Amapá.
Em vista do exposto, merecem re formuladas as normas de ação sobre política de exportação de minério de ferro. E’ certo (jue sobrevive a '
maioria dos princípios assentados por ocasião dos trabalhos da Missão Abbink. Vêm repetidos na reformula- ; De outro lado, se o problema ^ do financiamento do.s indispensáveis * melhoramentos que se fazem neces- ● na E. F. Central do i
çao. sarios, tanto ,. exportação assim dispusermos de transporte, so problema imediato dado.
F Existem jazidas de minério de fer
essa que E’ o nosno setor estu- Brasil, como na E. F. Vitória a Mi nas, puder ser superado com os fundos em cruzeiros do Plano Lafer e, em dólares, dos bancos mutuantes i de Washington, caducarão as fórmu- ‘ Ias de financiamento aventadas la citada Comissão. peNegociações
lateio. Todavia para fins de expor tação, apenas dois depósitos „ éle exteriores merecem amplas para atender ao desenvolvi mento econômico do Brasil peração de seus problemas básicos acham-se
> : parece supe
^ menção.
O mais importante deles é Urucum cuja i-eserva supera um bilhão de toneladas. O unico mercado em vis ta, embora -remoto, para essa imensa massa mineral, é a Argentina, cuja / futura capacidade de absorção nL
rior a um milhão de r neladas por ano No momento, o pro blema de ferro de Urucum nãô merece consideração.
Outro depósito, donde ■ r , se poderá , . exportar minerio, e o de hematita do , médio Vila Nova, tributário da mar : gem esquerda do Amazonas, desemK -'bocando a jusante da cidade de Ma ' zagáo. A reserva local, regularmen te cubada, é da ordem de 9 milhões ' de toneladas de hematita compacta

ser meio
e a su¬ em curso, caminhando para
solução satisfatória, resolvido êsse problema, oferecemos ao exame dessa culta assembléia al guns princípios reguladores da ação brasileira
campo do tema discutido: , no
1) O Brasil julga que a constitui ção de substanciais correntes exportadoras de minério in natura é com patível com o programa de aprovei tamento racional dos seus imensos depósitos de minério de fen-q.
e lamelar. Êsse minério pode exportado com facilidade, mediante investimento não superior a2) A lavra das jazidas não deve objetivar apenas o tipo comercial exi gido em determinada conjuntura pelo mercado externo, mas levar em con ta os princípios de conservação da J
J
.● 1.S Dkíesto Econômico
■'
Considerando nos próximos anos to¬
riqueza natural, mediante aproveita mento cabal dos diferentes tipos de minério existentes nos depósitos, devendo-sc buscar-lhes aplicação ime diata ou posterior. Neste caso, cum pre acumular, ao lado dos depósitos, estoques de minérios não solicitados, convenientemente protegidos, à espe ra de utilização futura.
3) O transporte de minério de fer ro para exportação não deve ser ob jetivo primordial das vias férreas. A estas cumpre, em princípio, e prioritàriamente, atender à vida econô mica das regiões a que servem, nos setores agrícola, pastoril e industrial, utilizando-se da, capacidade de trá fego excedente para fins de exporta ção de minério.
4) O significado da exportação de minério de ferro para a economia brasileii*a poderá ser apreciado sob o ângulo dos seguintes critérios:
a) — Fonte de moeda estrangeira a ser aplicada na importação de carvão metalúrgico destinado à siderurgia brasileira e, ao mesmo tempo, lastro de retorno dos car gueiros que o trazem,
b) — Meio de barateamento de fretes ferroviários para o carvão mineral que do litoral busca as usinas metalúrgicas do interior, mediante utilização, com minério de exportação, do espaço de re torno dos trens que o trazem,
c) — Fonte de receita para as ●estradas de ferro, como qualquer outra mercadoria transportada,
d) — Fonte de divisas para o país, como qualquer outra mercadoria exportada.
Importa fazer valer, ao exportar, j e sempre que possível, o predomínio r dos critérios na ordem enunciada. Para a consecução dêsses objetivos, é indispensável, além da reabilitação e do reaparelhamento das vias fér reas, objeto de projetos de sentido. mais geral, o seguinte:
— Cuidar da construção espe- ^ cífica, nos portos de exportação ■* de minério e importação de car- ' vão, Vitória, Rio de Janeiro e, fu turamente, Itacurussá e Angi*a dos Reis, de instalações modernas conjugadas, para embarque de mi- * hério e desembarque de carvao; j
b) — Providenciar o aproveita mento dos minérios pulverulentos para fins de exportação; o Govêr- ' no e os particulares devem lan çar-se à aplicação, tornando-as \ correntes, das técnicas de aglo- i nieração dos minérios incoerentes;
c) — Apoiar com vigor os estudos j em curso no Estado de Minas, ● sob a égide do Acordo de 26 de novembro de 1948, objetivando levantamento preciso das vas do Quadrilátero, de modo precisar a participação de cada tipo de minério na composição das jazidas

o resera e preparar terreno para
reformulações sucessivas da po lítica que nos convém seguir.
Em ' A ® problema de exporta¬ ção de minério de ferro é essencial- v mente fei^roviário e portuário, e o serviço prestado pelo minério expor- ● tado à expansão da siderurgia brasileira deve ser a medida da sua utilidade.
Digksto
Econômico
Z-isâ-iéíSikíikítkíiáSiàat
Planejamento do desenvolvimento f econômico de países subdesenvolvidos
HoHKHir) 1JI-; (>Livi;mA C^\^lPC^s
ConcluKãu
■ III — Alguns princípios e problemas do planejamento econômico
Nas considerações que . afloraremos alguns dos problemas que a experiêncta revelou reponta● lem amiúde na experiência dos paír ses subdesenvolvidos.
seguem
plano, sobrevêm a inflação,’ perturbando o computo de custos e benefícios e afetan do desfavoravelmente a ba--, lança de pagamento; ;
3) — a exaustão dos recursos po-● de levar à paralisação a meio caminho das obras en cetadas, desperdiçando-se re cursos financeiros e humanos. (16) i
mvestira-
A) — O ponto de partida — Muito frequentemente o esforço inicial de f planejamento nos países subdesenvolvidos se expressa, conforme observou o Professor Hans Singer, num levanP tamento das necessidades de i mento dos diversos setores. Não 5' ro o processo seguido
Ilustrações diárias desses percal ços abundam na experiência dos paí- ' ses subdesenvolvidos.
r, , , . , ^ ^ simple.s ^ soma dos planos individuais dos de^ partamentos governamentais. Quan*■ do subsequentemente se procede a um levantamento dos recursos V tários (fiscais, cambiais cios) e físicos (mão-de-obra, maté rias-primas; etc.) o resultado melan cólico usual é um grande déficit do" recursos em relação às necessidades^ Essa inadequação dos meios aos I fins pode levar a três resultados ' i

gualmente indesejáveis:
moneou credití-
A boa técnica de planejamento exl- ●' ge que o ponto do partida seja um levantamento de recursos disponí- J veis ou previsíveis antes que a cata- J logação das necessidades. 0 levanta- « mento dos recursos financeiros con- A
siste no exame dos recursos que po dem ser levantados através de — a)
sacrificando-se con-
redução mecânica dos planos individuais, não raro o equilíbrio do junto ou fixando-se escalas subeconômicas de produção;
2) — quando se tenta de qualquer forma a execução total do
b) empréstimos; — c) < tributação; poupança voluntária; — d) redução das despesas governamentais não re lacionadas com o desenvolvimento econômico. Como as necessidades sempre excedem os recursos, a conse quência natural é a fixação de uma escala de prioridade que rejeita cer-
(15) Professor Hans W. Singer, "Devclopment Projects as Part of National Development Programmes", em “Formulation and Economic Appraisal of' Development Projects, United NatIons’’j Book I, page 39.
í
4
J .1- , ík. Sv (I ( í. ÉL.
Dicesto Econômico
toa projetos em benefício de outros. O levantamento dos recursos finan ceiros tem que ser òbviamente com pletado pelo levantamento dos re cursos físicos e materiais.
Como tôdas as boas regras, entre tanto, o princípio acima avançado comporta exceções. O balanço pré vio das necessidades pode ter um cer to “inspirational value” capaz de le var a comunidade a um esforço maior de poupança, a uma aceitação de ní veis de tributação mais severos, aô sacrifício de importações menos es senciais, etc., gerando assim recur sos que de outra forma não viriam à tona. Além disso, os projetos de de senvolvimento econômico sóem ser em si mesmos geradores de novos re cursos, graças ao efeito cumulativo das inversões. Justifica-se assim que em alguns casos o balan ço das necessidades pre ceda o balanço dos re cursos.
B) InfelizHá Ao
O critério da produtividade
— A melhoria da produtividade é, a rigor, a essência mesma do desen volvimento econômico. O exame com parativo da contribuição dos diversos projetos para aumento da produti vidade é portanto básico na seleção dos projetos prioritários, mente, a aplicação prática do crité rio é mais difícil do que parece, em pznmeiro lugar a distinção entre produtividade direta e indireta; em segundo lugar, entre produtividade a curto prazo e a longo prazo, classificar prioritàriamente os diver sos. projetos, precisa o planificador balancear cuidadosamente esses as pectos. A grande maioria dos inves-

timcutos básicos, particularniente denominados “social overhead” a sai ber, os investimentos em educação,' saúde, assistência social, etc. apenas indiretamente produtivos, mesmo se pode dizer de alguns tipos ^ de “economic overhead”. Nem poi J isso são êles menos importantes, por i isso que usualmente indispensáveisj para que possam ser executados ou-í tros projetos. Em muitos casos, éj difícil para o planej dor evitar a ten^ tação de economizar investimentos! básicos em benefício de investimen-^ tos cujos resultados diretos sejam J tangíveis. Isso pode, entretanto, re- ij tardar o ritmo do desenvolvimento ‘ econômico. Acresce que é precisamente no que u tange aos investimentos \ de produtividade indireta * que são maiores as res-1 ponsabilidades do finan-^ ciamento público, dada a| pouca atração que exer-”^ cem sobre o capital pri—í" vado. J
os sao O
Questão correlata é a dos investi mentos a curto prazo timento a longo prazo. Nos primei-í . ros a produtividade se traduz em be nefícios imediatos; com os segundos logra-se, ordinariamente, mento maior de produtividade, porém o mesmo somente se manifesta após um determinado compasso de espe^ Em geral, dada a escassez crô-
versus” inves um incr ra. nica de recursos, é px^eferível Que ■ os países subdesenvolvidos se con-J centrem inicialmente nos investimen-^ tos mais baratos, a curto prazo, \ cujos frutos possam ser colhidos j prontamente e que gerem recursos -í para ulteidor acumulação. Isso evi- ^ taria outrossim, a mania de gran- ^
-.rx,-1 r‘ 21
I
diosidade frequentemente presente nos planos de desenvolvimento eco nômico.
ren-
na as inversões devem serviços
aguardar que se manifeste a procu ra, reservando-se os recursos, nesse ínterim, para investimentos a curto prazo. Essa noção constitui um do.s círculos viciosos do desenvolvimento econômico, pois que tôda a dinâmica do desenvolvimento
f . econômico con¬ siste em antecipar-se à procura antes que simplesmente satisfazê-la.
1 ¥ I:
,. T-v ^ ^ loQgo prazo, jr .Dentro da faixa dos investimentos ● diretamente* produtivos òbviamente a escolha 6 simples; o cálculo dos
custos específicos ® dos benefícios diretos indicará a desejabilidade do projeto e seu grau de prioridade.
Quanto aos de produtividade indire ta, não há possibilidade de liação financeira precisa, cabendo planejador julgar, com os dados dispòníveis, se os benefícios gerais dê-fes decorrentes são de molde í: ^.
pensar 0 seu custo específico. Quan to ao problema do prazo de gestação do investimento, a regra deve t-oncontrarem-se os países subdesenser
volvidos nos projetos de rentabilida de mais imediata, iniciando-se talvez por aqueles suscetíveis de atrair cooperação privada,(através da venda de ações ou obrigações pelo Governo), desonerando-se assim as finanças pú blicas, que ijoderiam imediatamente passai* a outros investimentos; sujei ta, entretanto, essa repra à ressalva acima feita da importância de atri buição de prioridade aos serviços bá sicos, apesar de constituírem eles, em ^e'ral, investimentos a lonpo pra zo. ÍIG)
Em grande parte, a possibilidade de decidir entro a distribuição de recursos para investimentos a longo prazo e a curto prazo c condicionado pela dimensão do furido inicial de in vestimentos ou, em outras palavras, pela margem de recursos acima do nível de simples subsistência, exis tente no momento do planejamento. Êsses fatores delimitam a “capacida de do espera” do país. Uma breve comparação entre as diversas expe riências de planejamento é ilustrati-
(16) O Prolessor Singer lc'mbra. com razão, a importância do se distingulrem os projetos do descnvolvlmonlo econômi co conforme a respectiva capacidade de produzir renda. Há alguns investimen tos que produzem receita -liquida quer direlamente. como os serviços de eletrici dade. quer indirotamenle. como as estra das de rodagem (que permitem a cole ta de impostos sôbre motoristas). Outros iià que são neutros (as despesas de ma nutenção absorvem a receita). Há finalmente um terceiro grupo como, por exemplo, os hospitais, que exigem vulto sas despesas do manutenção permanente depois de completado o investimento, consumindo habilualmente recursos su periores à receita. Os projetos classifi cados como produtores de renda líquida déveriam merecer tratamento prioritário. Vide Singer, “O financiamento de pro gramas de desenvolvimento económicn". Revista Bi*asileira de Economia, setemÍ5ro dc 1050. pág. 25.

\ 22 OicrsTo EcoNÓMiro 1
Se¬
1 } í I ’
Ainda aqui, entretanto, é perigoso ser dogmático. A provisão de ser viços básicos como, por exemplo, o serviço de transportes e .suprimento de energia, constituem tipicamente investimentos a longo prazo e de tabilidade diferida, que entretanto devem merecer alta prioridade, mesmo oportuno acautelarmonos aqui contra a noção de que nesses /.
Não há, infelizmente, nenhum cri tério matemático que permita uma dosagem mecânica do vulto dos inves timentos de produtividade direta indireta, a curto ou ou
uma avaao a com
va. Já vimos, por exemplo, que no caso da Polônia, devastada pela puerra, subnutrida e privada dò esto ques de bens de consumo, a ênfase inicial do plano tinha que incidir inevitavelmente sobro investimentos a curto ))razo nas indústrias leves o na produção alimentícia. O plano de Bombaim ]iara u índia chama es-

dis- Concentração “veraua Temos aqui um
C) ' pcrsão regional problema em que o economista tem que ceder o palco ao administrador e ao político. 0 economista poderia, a rigor, dar ao problema uma solução i'olativamente simples. Infelizmente, essa solução é quase sempre politi camente inaceitável.
Partindo de duas premissas bási cas — (a) que os recursos financei ros são escassos na maioria dos paí ses subdesenvolvidos e — (b) que em todos ou quase todos os países sub desenvolvidos há certas áreas que já atingiram um certo nível de desen volvimento e já estão providas de alguns serviços básicos (instalações hidrelétricas, portos, ferrovias etc.)
— 0 economista recomendaria, prontaniente, a concentração do maior t volume possível de recursos nestas i
últimas áreas. A probabilidade c j
no
pecificamente a atenção para o fato de que, dado o baixo nivel de consu mo per capita, qualcjuer planejamen to, ainda que atribuindo prioridade ãs indústrias básicas, deveria neces sariamente fazer provisões assaz ge nerosas para a produção do bens dc No primeiro período de consumo, aplicação do plano de Bombaim, a relação entre investimentos em bens de consumo e investimentos em in dústrias básicas deveria ser dc 1 pa ra 1,6; somente em fases posteriores se alteraria essa relação para 1:4 segundo período e 1:6 no terceiro período. 'O primeiro plano quinque nal soviético, iniciado em 1928, to-
mou orientação diferente, reservan do do valor planejado dos inves timentos industriais para as indús trias de bens de produção, percenta gem esta que, aliás, foi excedida na prática, pela existência de um fundo inicial de bens de consumo, criado pela di fícil e dolorosa experiência de coletivização e mecanização da agricul tura executada entre 1920 e 1926, a qual permitiu grande aumento na provisão de alimentos. Ainda assim o planejamento soviético impôs pe sados sacrifícios aos consumidores, sacrifícios êsses que dificilmente se riam aceitos em países de estrutura política não socialista. (17)
Isso foi tornado possível
de que os investimentos ali feitos seriam mais baratos e imediatamente produtivos. Nessas condições, um volume dado de investimentos pode ria presumivelmente resultar num aumento mais rápido da renda nacio nal do que se os investimentos fos sem feitos em áreas mais primitivas; gerar-se-iam assim recursos maiores que poderíam, em estágios subse quentes, ser aplicados para ataque em larga escala ao problema do de senvolvimento econômico global. E’
U7)
23 Dioiü»'io EcoNÓNacx»
J 1 1
».
I \
\ I \ I
Vide H, W, Singer, "Development Projects as Part of National Develop ment Programmes", em "Formulation and Economic Appraisal of Development Pro jects, United Nations”, Book I, page 32. Vide também A. Baykov, "The Develop ment Soviet Economic System”, bridge University Press, page 167. Cam-
a fim de , preciso não esquecei- <iue, , o desenvolvimento econômico se tor¬ nar cumulativo e automático, são ne cessários investimentos maciços, os y quais diricílmente ocorrerão se os , recursos disponíveis tiverem que ser dispersados por tôdas as repiões de um país subdesenvolvido.
j- ● * é
i
Se abandonarmos, entretanto, ponto de vista estritamente econômi co, a solução é muito menos simples. Há, de um lado, o fato de
1>) dário.s do
A teoria cios “Pontos cie H (ierminação” i— Uma controvérsia 9 que sói repontar cpiando cia formulação de programas de desenvolvimento econômico c aquela entre os parti- ^ “desenvolvimento inteprrado” e os que favorecem a seleção de ‘‘pontos de crescimento”, ftsses últimos asseveram que, levando cm conta não somente a falta de recur sos financeiros mas também a ca rência de informação técnica e esta tística nos países subdesenvolvidos, o planejamento dever-se-ia concen trar exclusivamente nos "pontos de crescimento” como transporte, enerífia e indústrias básicas. Para êsse
-
o que na maioria dos países subdesenvolvidos programas de desenvolvimento têm de refletir forçosamente os a preocupação de fomentar a integração política do país, trazendo i nhão econômica a comuas areas menos de tipo de investimentos se deveriam orientar os capitais públicos e para eles deveriam ser atraídos, por estí mulos e incentivos, os capitais pri vados. E’ êste o conceito subjacente aos chamados planos seccionais, que se limitam a planejar o desenvolvi mento de determinados setores eco nômicos considerados como gerniinativos. No Brasil
senvolvidas. nas regiões esperança de que êsses recursos se multipliquem mais rapidamente para permitir distribui ção mais abundante no futuro, postulado de que, para O serem mais
Há, de outro lado, o
, considerado pelos habitantes das regiões mais retardadas como um cruel paradoxo.
Êsses diversos fatôrés têm compe lido varios países subdesenvolvidos, excluído o Brasil, a uma frag
nao com o in-
o
ca
, por exemplo, nunse tentou a rigor um planejamen to geral da economia, confinando-se os esforços até o presente ao plane jamento dos investimentos públicos (Plano Salte) ou ao desenvolvimento de plano.s seccionais, compreendendo investimentos públicos e, em certa medida, coordenação de investimen tos privados, concernentes a setores ou indústrias individuais (Plano de Eletrificação, Plano para o Estabe lecimento da Indústria Sidenírgica, ■ etc.). (18)
Ír> . h. I

DinKSTo EcosViMirn 3-t
1^ aspecto social e humano; seria difí cil fazer compreender às regiões ou estados menos desenvolvidos, a ne cessidade de concentrar maciçamente os recursos precisamente mais evoluídas, na VV*
baratos e imediatamente produtivos os programas de desenvolvimento econômico devem começar exatamen
te pelas areas mais desenvolvidas não pode deixar de ’
rmentação excessiva de recursos, resultado de que o critério de i vestimentos segundo a maior produ tividade é frequentemente deslocad pela necessidade de atender às injunções políticas e sociais. í
(18) Para uma exposição pormenoriza da das experiências de planejamento no Brasil vide "Experiência Brasileira de Planejamento, Orientação e Contrôle da Economia", contribuição de Rômulo Al meida para o Seminário de Economistas
dade.
universalizado
A vantagem do planejamento sec cional é a sua mais fácil exequibiliO planejamento integral ou pressupõe a solução prévia de determinados problemas tais como o da coordenação entre iniciativas públicas e privadas, o da informação estatística sôbre renda nacional e seus elementos componen-
assegurar a coerência entre os propúblicos e privados de inverA terceira razão deriva da nemaio-
gramas são. cessidade que experimenta a
ria dos países subdesenvolvidos de obter assistência financeira externa para a importação de bens de capitai e de serviços exigidos para o desenvolvinjento econômico. Êsse auxílio financeiro externo, sob a forma de tes, evolução de preços, etc. — pro blemas cuja solução não é fácil nem O planejamento seccional rápida,
teria ainda, argúi-se, a vantagem de circunscrever a área de intervenção governamental ao mínimo necessário desenvolvimento econômico. para o consideração esta que é de alguma importância quando a eficiência técdos órgãos públicos dei-xa a de- mea
I do país. (19)
empréstimos de agências como o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o “Export Iniport Bank”, é habitualmente difi cultado quando o país pretendente não pode demonstrar que os recur sos internos estão sendo adequada mente aproveitados para inversões úteis ao desenvolvimento econômico
sejar.
1 mico.
importância de se a no vado.
formulação de
De um modo geral, entretanto, as desvantagens potenciais do planeja mento meramente seccional são de molde a tornar aconselhável um esfôrço por parte dos países subdesen volvidos para chegarem a um plane jamento integral. A primeira razão favor da universalidade do pla nejamento é obter uma visão global das necessi dades de capital da economia, tanto setor público como no setor priIsso é imprescindível para a uma política fiscal'
capaz de — (a) levantar os recur sos necessários aos investimentos pú blicos- (b) minorar a pressão in¬ flacionária e — (c) estimular ou de sestimular investimentos privados. A segunda razão é a necessidade de
A teoria dos “pontos germinativos” pode também ser interpretada apenas como a simples atribuição de prioridades aos investimentos bá sicos, dentro de um programa geral de inversões. Neste caso é ela perteitamente compatível com o pla nejamento universalizado e consti tui aliás um requisito metodológico indispensável para qualquer progra ma eficaz de desenvolvimento econó-
E) — A Coordenação Entre os Se tores Público e Privado — Um dos problemas mais sérios no planeja mento dos países subdesenvohddos, de estrutura socializada, deriva da dificuldade de assegurar a zação dos progi^amas de desenvolvi mento pelo setor privado.
nao realiPresuniepromovido pelo Secretariado das Nações Unidas, em Pórto Rico, em maio de 195p. Planejamento e sôbre problemas de
Execução de Programas de Desenvolvi mento de Economias menos Desenvolvi das.
(19) Pàra uma discussão pormenonzada dèstes tópicos, vide Professor Piebisch ‘ “Problemas Teóricos y Practicos dei Crecimlento Econotnlco”. Coml^ao Econômica da América Latina. Doc. E/CN.12/221, págs. 70-72.

25 DiCESixa
EcoNÓ^^co
em
ae que nesae tipo dc economia não seja facultado ao Governo impor es' tatutòriamente a execução dos pla nos. Resta-lhe o recurso de utilizar incentivos e desestímulos, mediante os quais os recursos materiais finan ceiros e humanos podem ser ou orien tados para os setores prioritários desviados de empregos menos ou essen, ciais. Além de incentivos e desestír ^ mulos, a intervenção governamental I no setor privado pode também acompanhada de ser ^^^Ções formais, . cujas principais modalidades são o . licenciamento, o sistema de cotas e os contratos específicos que vinculam as empresas privadas à realização programas de desenvolvimento.
.*5. Preferência na obtenção dc fa- a tôres cscasnos
a) Cotas de câmbio; ■
b) Cotas dc matérias-primas;
c) Licenças jiara construção:
d) Distribuição de mão-de-obra;

e) Prioridade na obtenção de licenças de im])ortação.
4. Provisão de serviços
a) Sei-viços públicos (habita ção, estradas, etc);
b) Serviço de pesquisa;
c) Educação e treinamento téc nico.
L ampla a lista de dos de influência mo o revela
. de possíveis métogovernamental a seguinte enu co-
poG Exe*
1 . Financeiros
a) Impostos especiais sôbre n produção;
b) Impostos consumo;
^ — Controles c* Regulamentos meração que abrange tanto os incentivos sitivos como os regulamentos e con troles diretos, transcrita do relató rio do Semináno de Peritos sôbre ● Problemas de Planejamento cução de Programas de mento Econômico
n^ln
Desenvolviconvocado
O. N. U., em Pôrto Rico de 1951: em maio
A — Incentivos positivos
1. Financeiros
a) Favores fiscais,
b) Proibição ou tributação da exportação de materiais uti hzados pelas indústrias do mésticas.
c) Isenção tarifária,
d) Proteção tarifária.
2. Garantia
a) Garantia de mercados,
b) Contratos governamentais,
c) Garantia de preços.
c) Imposto.s sôbre fundos não utilizados;
d) Controle de investimentos;
c) Contrôle da invevsão de ca pital.
2. Denegação de fatores
especiais sôbre escassos
a) Recusa de cambiais;
b) Recusa de matérias-primas;
c) Recusa de mão-de-obra . ou proibição direta
a) Denegação de licenças de construção;
3. Limitação pnv-
b) Proibição ou limitação de determinadas atividades ticulares.
Na prática, esses diversos tipos de contrôle, alguns dos quais já la. tamente aplicados nos países sub desenvolvidos, em particular ferentes à importação, câmbio, movios re-
DiGF.sTO Econômico
26
mento de capitais, licenças pura cons trução, etc., são suplementados por contrjrtos diretos entre o Governo e privadas participantes as entidades de problemas de desenvolvimento.
Nos casos em que o sistema con tratual c possível, apresenta êl« van'tagens .sôbre o sistema de execução direta pelo Governo, devido à possi bilidade de captura adicional de retécnica que, de outra maneificariam à margem dos planos cursos e ra, dc desenvolvimento.
contratual, entretanto, O regime só c factível quando o número de emprivadas, que devem particié limitado. No caso presas par do plano, de investimentos no setor de moder nização agrícola, onde é frequente a fragmentação de empresas, o regime contratual é muitas vezes impiatiNestas condições, tem a auto- cável.
dos, pax'a financiar o conjunto das importações necessárias. (20)

Quanto ao mecanismo neceâsário para assegurar a coordenação, ne nhuma regra genérica se pode esta belecer, dado que o mecanismo do planejamento e execução é invaria velmente afetado pelas peculiaridades institucionais de cada país. Nos paí ses onde existe uma “Unidade Cen tral Planejadora”, a ela cabe, quase sempre, não só o planejamento da iniciativa pública, mas também a aplicação dos incentivos, controles o 'h fixação .dos contratos utilizados para assegurar a realização do plano geral pelo setor privado.
F) — Balanço de Custo e Bene fícios — O balanço de custos e bene fícios é um indispensável passo no planejamento econômico, devendo ser efetuado para cada um dos projetos individuais, excetuados apenas aque les cuja produtividade é por tal for ma indireta que não seja possível
governamentais, dos aspectos importantes da coordenação entre o setor público e privado resulta da necessidade de compatibilidade entre os
Uni o assegurar a setores básicos, usualmente reserva dos para inversões governamentais, resto das atividades, onde são e o predominantes das. _ .
ridade planejadora que repousar so bre os incentivos e controles- acima especificados, fiscalizadora de departamentos suplementados pela açao uma avaliação suficientemente con creta do vulto dos benefícios. O cálculo de custos e benefícios é neces sário por três razões: 1) para verifi cação da rentabilidade financeira ou utilidade social do projeto; 2) para permitir a fixação da escala' ótima de produção em cada projeto indivi dual, definida esta como aquela que aumenta o excedente dos benefícios sôbre os custos; 3) para permitir
as inversões priva-
Da falta de coordenação resulsem essa
permitisse utilização criteriosa
taria um desenvolvimento excessivo ou inadequado dos setores básicos em relação à superestrutura agrícola e industrial a ser criada. Além disso, coordenação seria difícil a formulação de uma política cambial que dos recursos em divisas, geralmente insuficientes, nos países desenvolvi-
uma comparação entre custos e benefícios dos diversos pro jetos, com o fito de selecionar, entre
estrutura de a
(20) Para uma discussão pormenorizada de problemas de compatibilidade de pla nos, vide Professor Prebisch, "Problemas Teóricos e Práticos do Crescimento Eco nômico”, Comissão Econômica para a América Latina. Doc. E/CN.12/221, págs. 98-104.
27 Dicesto Ec<íNÒmic:()
as diversas alternativas, atjuela i]ue aumenta os benefícios.
O processo seguido nas análises de custo involve, em geral, além da dis tinção entre custos primários ou dire tos, e custos secundários, ou indire tos, a discriminação do (a) custo de capital; íb) conservação e deprecia ção; (c) custos de operação; íd> en cargos e financeiros. (22)
fios do planojaniento, assa?, frequen tes na experiência dos países subde senvolvidos.
O i)rimoiro mação do cajíital fai>ital incorpôroo desenvolvimento
eonsiste na superestiroal cm relação a® ou intangível, f) econômico repousa
.sôl>re um suprimento invisível de tecmilogia. oxjjcriència administrativa,
f'
A análise dos beneficios compreen
r lastro cultural, etc. O professor Singer usu a imagem cio “iceberg exemplificar para a parte submersa de a determinação da rentabilidadrdireta do projeto, hem como da sua rentabilidade indireta ou social. O primeiro tipo de computo primordialmente a mensuração dos benefícios primários, a .sabor, dos produtos
abrange o valor serviços imediata
)' 1 '
mente originários de um projeto. Os benefícios secundários, tíveis do mensuração.

menos suscesao representa
dos pelas repercussões favoráveis do projeto cm outros setores do mia. Feita a avaliação econoem termos monetários, obtém-se a relação entre custos e benefícios. De posse desta ultima e fácil classificar príoritàriamonte os diversos projetos.
, , o planeja¬ dor demonstra que: 1) os benefícios do projeto excedem 0 respectivo cus
to; 2) a escala de produção contem plada permite um rendimento óti mo; 3) não há uso alternativo eficiente dos recursos mais a serem absor¬ vidos pelo projeto.
ü invisível do dosenvolvimonto economico supera, de muito, em dimen sões, o capital corpôreo ou visível sob a forma de máquinas e instalações países subdesen- I-y freciucnto volvidos negligenciar em educação, tecnológica, tangível,
nos pesquis
investimentos a c formação em benefício de capital o qual, subsequentemente, pode .ser oficmmente utilizado, lirecisamente jiela carência do desen volvimento educacional
nao e tecnológico.
O segundo, contra o qual' tem consistentemente advertido o Professor Prebisch, é a mecanização prematu ra. O prestígio de produtividade me cânica dos países mais desenvolvi
(22) Para ilustrações da técnica d,, computo de custos e benefícios, vide J Thomsen Lund, "Appralsing costs and benefits of development projects”, “Formulation and Economic Appraisal Development Proerams", Book I, 133-146
de in of
dos leva os países subdesenvolvidos, à imiiortação de equipa mentos economizadores de máo-dcobra, exigindo vultosos recursos do capital, quando o fator mais escasso nos países subdesenvolvidos nào ó mão-de-obra senão precisamente o capital. Para êssea países, portanto, uma melhoria de produtividade atra vés de equipamentos relativamento baratos, ainda que de menor eficiên cia mecânica, é mais importante do que o aumento de produtividade atra vés de equipamentos de alta densida de de capital e destinados à poupan ça de mão-de-obra.
*■ r Ti 2« Oior.sTo. I’:cf»N(jxã<U^
c
ou
V
O tríplice objetivo indicado cípio é satisfeito quando a prin* /
nao raro
Q) — Alguns Vícios do Planeja mento Econômico — Não ;;erià ino portuno lembrar aqui alguns dos ví-
A dificuldade provém do «pie equipamentos industriais e o mate rial de transporte necessários L.:r países subdesenvolvidos tCun que ser importados de países de economia cuja tecnolopia produtiva reflete necessariamente a rdspoctiva dotação de fatores de produção. Sen do 0 custo de mão-de-obra rclativamente elevado em relação 'ao custo do capital, predominam o(iuipamentos do tipo “labor savinp:”. Essa desadaptação é sem dxivida um fator neo desenvolvimento das
os nos moderna. pativo para
subdesenvolvidas, onde o pro- areas blema é oi*dinàriamcnto poupar capi tal e empi'cíí^^‘ mão-de-obra croni camente excedentária ou pradualmonto liberada pov melhoramentos tccnolópicos mv apricultura. (23)
As técnicas prevalecentos nas ciôncias sociais, entretanto, imbuídas cosão do um certo coeficiente ins titucional, não têm a mesma facili dade de transplantação, conquanto seja desejável e útil o intercâmbio internacional de experiência nhecimontos. (24) São de suma im portância, neste sentido, os proprade treinamento em Administra-
mo e co¬ mas
ção- Pública e em técnicas de plane jamento, recentemente desenvolvidos pelas Nações Unidas e suas Comissiies Ropionais e Apências especia lizadas.
As deficiências de orpanização ad ministrativa, aliadas ã escassez do estatísticos e economistas, redundam ordinariamente na falta de alguns elementos básicos de planejamento estatísticas de renda nacional, como
da balança de pagamento e índices de preços, que tornam o planejamen to global impossível.
dificuldades do planeja mento econômico IV — Da« ( j^geassez de Técnicos — A de técnicos constitui sério à formulação de progradesenvolvimonto econômico, tempo que a escassez de administrativa dificulta em rca-
a lidade.
cimentos engenharia importados, mico ger nisti*ativas
A) escassez obstáculo mas do ao mesmo experiência transformação dos plq^nos O problema é agravado pelo fato de que, ao passo que os conhetecnológicos no terreno da e mecânica podem sor o planejamento econ«);al pressupõe técnicas admie cconlómicas que não
podem ser fàcilmentc transplantadas. E’ factível e diária a importação de métodos tecnológicos, que de fatores institucionais. patentes e independem
“Proble-
(23) Vide Professor Prebisch, mas Teóricos Y Practicos dei Crecimiento Economico”, Comision Economica de America Latina, E/CN.13/221, Cap. HI.
nacional ca-
B) — A Caprichosa Margem IntcrSubdesenvolviraento c sinônimo de carência de capital. Nes tas condições, o aceleramento do rit mo de desenvolvimento exige, quase sempre, uma suplementação de pitai doméstico por capital importa do. Mesmo quando o descnvolvimen-
(24) Refletindo o ceticismo dos econo mistas em relação à transmisslbilidade das técnicas administrativas — ponto ne vista que os especialistas em admlnistrnçao publica dificilmente aceitariam.— 9*^* clara o relatório de peritos da ONU in titulado "Measures for the Economic Deyelopment of Under-developed Countnes’: “in this task the training of techniclans is relatively simple. More diCfitraining of administrators. sin-- the qualitles required for successfui admlnistration have fo be learned on Uu* jnb " "Tliere is no xvay of learmng
ce admlnistration except bv practicing u. "Measures for lhe Economic Development Dúc. of Counlries” Under
.
-developed E/1086 May, 1951, p. 32.

DroESTo Econômico
to econômico é financiado por recur sos financeiros internos, há necessi dade de importação de maquinaria e equipamento, o que torna o desen volvimento econômico dependente- da posição cambial, das relações de tro ca e de tôda uma íjama de influên cias internacionais. Isto introduz
os paí.ses .subdesenvülvido.s no após;íuej-ra tem revelado as característi cas seííuintcs:

a) volume reduzido
b) concentração das inversões nos setores de petróleo c mineração
c) substituição dos investimentos ))or fólio por inversões diretas. enorme grrau de incerteza no plane jamento.
Especifiquemos, para dois fatôres análise, que nos parecem mais relevantes, a saber: o influxo do capitai e a evolução das relações de tro ca, que constituem a “caprichosa margem internacional”
os O fluxo de capitais púl)licos se tem confinado a empréstimos do “E.xport ímport Bank
O Influxo de Capital
0 influxo de capital estranKei nos paises subdesenvolvidos tem sido extremamente débil no após-guerí Isto e verdade tanto a respeita bi capitai púbiico como do cap^urprb
Não só êsse insuficiente
ro suprimento tem sido como instável
, o que ap-ava as dificuldades da planific”
çao, O suprimento total do capital estrange.ro, ineluindo empréstimos o donativos para países subdesenvolvi ^ _ dos e presentemente inferi
bilhões de dólares
lor a 1,5 por ano. i
Não é êste o cutir a fundo
momento para se dis. .. . ° papel desempenhado pelo financiamento estrangeiA no de senvolvimento econômicomencionar, entre as bastará
.. . , Possibilidade.s que 0 financiamento estrangeiro abre para os países subdesenvolvidos as seguintes: aceleramento do ritmo de formação do capital, redução da são inflacionária e da prespressão sobre
a balança de pagamentos.
0 fluxo de capital privado para
nal, exceto no que toca aos territó rios coloniais, sob o controle dos paí ses da Europa Ocidental, os quais se têm beneficiado dos fundos do Plano de Recuperação Econômica Européia.
A importância dessa margem inter nacional
e do Banco Internaciona planificação econômica
pode ser convenientemente ilustrada pelo Plano Colombo, destinado a fo mentar o desenvolvimento económioo do suleste da Ásia. O componen te, em moeda estrangeira, dêstes pla nos, sob a forma de importações ne cessárias, varia de 26% no caso da índia, para 46% no caso do Paqn^®' tão, 59% no do Ceilão e 657o no re ferente a Malaia e Bofnéu do Norte.
(25) E’ fácil de ver, nestas condi ções, que qualquer retardamento ou redução na previsão de moeda es trangeira redunda na impossibilida-
(25) As importações decorrentes de plonos de desenvolvimento podem ser clas sificadas em primárias (equipamentos Íhdustriais, equipamentos de transporte, serviços técnicos etc.) e secundária» (bens de consumo para atender ao imple mento de consumo provocado pelo cres cimento da renda nacional, matérias-pri mas para operação de equipamento im portado etc.), Vide "Financial Aspects of Economlc Development", E. D. Vries, in "Formulation and Economlc Appralsal of Development Programmes", page 351.
0(í IC(ONÓM» (! «'
i
V.
'
f P. t
I
1'
Já kL
de de planejar e executai com pre cisão.
Há em geral acordo sobre a ne cessidade de se promover um fluxo maior de capitais para os países subdesenvolv’idos e de se lhes dar maior estabilidade. Isso tem sido acentuaem relatórios de do principalmente vários órgãos das Nações Unidas, mas também em documentos oficiais como o relatório norte-americanos, Cray e o Relatório intitulado “Partin Progress”, preparado pelo ners Comitê Consultivo do Ponto IV, sob a chefia do Sr. Nelson Rockefeller.
Dentre os trabalhos da ONU, dois merecem ser especialinente citados, o relatório de um grupo de peritos sobre pleno emprego, intitulado “Na tional and International Measures foi Eull Employnient grupo de peritos sobre desenvolvi mento econômico, “Measures for the Economic Development of under Developed Countries”. (26) No primeidêstes documentos, após conhecida a insuficiência e instabili dade do fluxo de capital privado, re comenda-se que os países exportadode capital fixem metas anuais de exterior, enquadradas
empréstimos públicos e as inversões privadas, assim como o retorno de fundos e amortização de dívidas pas sadas; os governos emprestadores poriam à disposição do Banco Inter nacional, semestralmente, o montante planejado de investimentos, menos as quantias que se calcula sejam fornecidas pelo capital privado ou outras entidades emprestadoras. Na medida em que o fluxo espontâneo do capital privado não lograr preen cher as metas de investimento, fun dos públicos seriam subsequentemen te postos à disposição do Banco In ternacional para empréstimo direto aos países subdesenvolvidos.
e o relatório do ser re- ro res inversões no
programas quinquenais de inves timento a longo prazo; calcular-se-ia nível da exportação de capital cada ano em função das disponibi lidades de capital e em função do total de investimentos necessários economia cm nível Na fixação das
em em o para manter a de pleno emprego, metas anuais ter-se-iam em conta os
(26) Vide “National and International Measures for Full Employment”, U. N.. Measures íor Doc. E/1584, dez. 1949, e the Economic Development of Under-developed Countries". U. N.. Doc.. E/1986, May 1951.

O segundo destes relatórios, inti tulado “Measures for The Economic Development of Under-Developed Countries” recomenda a) que sejam tomadas medidas para assegurar um fluxo total de capital, de todas as fontes, para os países subdesenvolvi dos, da ordem de 10 bilhões de dó lares por ano; b) que o Banco Inter nacional aumente o seu volume anual de empréstimos para desenvolvimen to econômico, ora orçado em tôrno de 300 milhões, para um bilhão de dólares; c) que se estabeleça uma “International Development Authority”, com o poder de fazer donati vos aos países subdesenvolvidos, num montante que poderia crescer gra dualmente até três bilhões de dóla res por ano, para finalidades indire tamente produtivas, tais como edu cação e pesquisa, saúde pública, ser viços públicos subvenção dé crédito agrícola a curto e médio prazo.
em zonas rurais c
Enquanto medidas de ampla coope ração internacional dessa espécie não forem tomadas, o planejamento dos
31 Digesto EcoNÓNnco
- países sujeito í
subdesenv a enorme baíje®*
●ülvidos continuaiá incerteza, pois terá
● em estimativas pre-
do influxo de capita] privado nuxílios financeiros do Banco internacional ou do Banco de ExporImportação, a ser ne^ociaprojetos específicos.
se que e taçao dos para
Relações de Troca
tí*ndéncia declinante tem ífrande instabilidí^" j^idos que os países subdesen''® todos êles produtores de ●
ciada com ISSO sao violentí'^ primários sujeitos a
jÇ parte
O segundo elemento de incerteza, acima aludimos, são as flunas i-elações de troca, o influxo de capital, o poder .A a que tuações
5- aquisitivo dos países subdesenvolvit dos, em termos de bens de capital
K importados, é função do quunlum
J- portado e das relações de troca.
0' tudos recentes da questão, particu^ larmente por parte dos professores k Singer e Prebisch, têm revelado
exEstendência declinante das relações d'» troca dos países subdesenvolvido.s desde 1870 até a segunda guerra
f Exmlopda>- X. U. o veoduecp ao pas-
tuações cíclica.s. tudocS As estimativas contidas Relativo prices jiorts and Imports of Under-I^^' " ed Countries” indicam que lações de troca dos iiaíscs de ção primária, conforme das estatísticas de comércio d^s tados Unidos e Grã-Bretanb^^» ^ em 1947 inferiores de 18 a 20^*’ nível predominante em 1918, so que durante a grande depf^^^^^g o poder de compra externo doS ^qí' subdesenvolvidos caiu de 30 ^ ’fj29 em relação ao predominante eu^ Houvessem as relações de ” manecido invariáveis e a receita bial adicional dos países subdese*''^® * dos teria superado a receita cêrca de 2,5 a 3 bilhões de dólai^" no primeiro dos exemplos tados, quantia superior de duas
L g< mundial. ● Conquanto sejam disputáK veis vários pormenores estatísticos, seria difícil negar a validade da asF sertiva em linhas gerais. (27) Essa capi(28)
't fí ■
as suas importações anuais íi® tal no período de após-guerra*
As perdas de recursoscausadas pela deterioração daS ções de troca — deterioração
cambiais relaessa
mamelhoracom a redos
t' (27J Uma das mais sérias dificuldades de conceituaçao_ estatística é a apresen BT' tada pela variaçao. no tempo, de qualida ./ de e grau de elaboração dos produtos L nufaturados. sujeitos a contínuo mento qualitativo, contrastada lativa invariabilidade qualitativa ; produtos primários (café. minérios etc 1
"● Nessas condições, ao. passo que os pro dutos exportados pelos produtores prlmá ■ rios sao comparáveis em diferentesríodos de tempo, as modificações intr duzídas nas manufaturas podem ser do ordem a tornar irrelevante a comparação de preços da mesma mercadoria ; Alguns economis"
peoejií diferentes períodos.
^ tas acreditam que a era de relações de r troca desfavorável para os produtores pri mários findou durante os anos 40. A in dustrialização de vários países de produ ção primária, a ausência de novas áreas de fácil desenvolvimento agrícola, o mo-
vimento quase universal do urbani^^^^®' a instabilidade política das áreas P ■ pulaçâo primária na Asia deixariani trever uma era cie recuperação doS preÇos primários (Vide. a respeito. Clark. “Economies of 19G0"). Na medi da em que isso aconteça moihorarSo. P*o lanto, as possibilidades de autofinanclamento das regiões subdesenvolvidas.
(28) Vide "Relative Prices of EXpo^ts and Imports of Under-Developed Coun tries". U. N.. December, 1949_ page ● de também "The Economic Development of Latin America and its Principal Pfoblems" Comissão Econômica da America Latina.' Doc. E/CN. 12/89.

0íf:F_STO EC^’
,%●
I-
( ii 't
DigESTO Econômico 1
ser atribuída a uma Piaioi'
execução pi-ópria
■ dos planos de foagravar a procura de i cjue não pode taxa superior do crescimento da Produtividade na produção primária. Por isso qi e foi precisamente a pro dutividade industrial que acusou crescimento
de mas podem rentes ma. período con¬ siderado nao foram suficiente te compensadas pelas exportações de capital POi' parte dos países indus trializados.
Essas considerações
no menindicam que
U m e.squema que permitisse relativo asseguítrau de estabilidade i-ar um dos preços primários e do fluxo de capital c a manutenção de relações oquitativas de troca facilitaria enorUicniente a tarefa de planejamento econômico nos países subdesenvolvi dos. (29)
Na preparação dos projetos dos
-"^"nrtacões- ^além d=3so. os prograimpor Ç j^^gjjyoiviinento industrial acarretar necessidades decorde importação de matéria-pri-
secundário sobre a ba- O impacto de pagamentos pode também transferência de fa- lança resultar de uma .tôres das indústrias de exportação M nara as domésticas, ou da dimnim- i cão nas disponibilidades de bens de ] consumo decorrentes da transferen cia de mão-de-obra e de outros redomésticos, da produção de cursos
● X j > bens de consumo para os projetos de ■* Considerável pro- - - desenvolvimento, gresso tem sido feito no tratamento j do impacto cambial secundário dos projetos de desenvolvimento. Em pelo menos um caso a necessidade de auxílio cambial para atender a 1
(29) Cabe. entretanto, não esquecer o caráter ambivalente da melhoria das re lações de troca. Se de um lado torna mais fácil a aquisiçao de bens de capital necessários ao desenvolvimento econômi co. do outro, torna mais atraente a im portação de artigos manufaturados, desostimulando a industrialização. Entre tanto, a mcllioria das relações de troca, se associada a controles seletivos de im portação. enquadrados num plano de de senvolvimento econômico, pode consti tuir uma das mais eficazes fontes de fiiranciamcnto da formação de capital nos países subdesenvolvidos.
repercussões
Programas de desenvolvimento, êsses países frequentemente só levam em secundárias foi Consideração as necessidades primá rias em moeda estrangeira, relacio nadas com a importação de bens de capital. técnica de plaiiejaniento exige uma apreciação comple ta tanto dos efeitos primários como dos secundários sôbre a balança de pagamento. Êstes últimos derivam do fato de que, sendo uma alta pro pensão a importar característica dos países subdesenvolvidos, o crescimento da renda nacional decorrente da
essas cx CO Internacional. ciaçoes para o ao desenvolvimento econômico do sul da Itália, durante as quais o Banco concordou em fazer provisões para financiamento de importações de bens de consumo, cuja demanda au- 'í mentaria em função do aumento de renda decorrente do projeto. - ]
plicitamente reconhecida pelo BanTrata-se das negoempréstimo destinado

( o financiamento inconfine de j
Êsse tipo de auxílio cambial secun dário dado pelo Banco Internacional ^ constituiría uma satisfação, pelo nienos parcial e indireta, dos persisten- 1 tes reclamos das nações subdesenvolvidas para que o ternacional público não se necessariamente às despesas eni niocda estrangeira com a importação bens de capital, mas seja também utilizado para. a cobertura de despe-
■●rr
í
moeda local. Isso porque, na particulannente vulnerável à infla ção são as seguintes: sas em medida em que se atende, com finan ciamento estrangeiro, ao aumento da derivada do investimento, li- procura a) o carátei- parcial dos planos e frequente falta de coordenação entre os planos públicos e pri vados, com resultante incompotibilidade entre o total dos re cursos financeiros c materiais e as iniciativas planejadas:
beram-se, sem aumento da pressão inflacionária, recursos utilizáveis pa ra o financiamento local. Não ó
outi'a aliás a técnica dos “fundos de contrapartida”, inaugurada UNRRA e ampliada com de Recuperação Européia”; bos os casos, os fundos em moeda local, obtidos com a bens de produção ou de consumo i portados, eram creditados especiais, cuja retenção tinha efei to antiinflacionário imediato, serviam de reserva tos futuros.
com a o “Planu ; cm amrevenda dos . mi em contas c que para investimen-
çao perigosa entre Scila e Caribdes Se se adota uma atitude demasiado ●cautelosa para evitar o Caribdes da inflação, o resultado niais provável
b) a insuficiência do auxílio fi* nanceiro externo para os i)aíses subdesenvolvidos, o que os colo ca na alternativa de ou retar dar o l itmo do desenvolvimento ou tentar apressar o látino formação de capital por pvo' cessos inflacionários, dado ® parco volume da poupança luntária interna;

dtf vo-
c) a baixa elasticidade de supri' mento nas economais priniá-
da i’ias; assim, uma expansao pi ocura monetária somente le^" tamente reação provoca
corres])ondente da produção, passo que nos países industrií^' lizados é frequentemente a dç' ficiência da procura monetán® que impede a plena utilizaÇ^® do aparelho produtivo. r
e que o barco se chocará contr Scila da estagnação. Uma a 0 certa dose de pressão inflacionária é inevitável execução de qualquer plano de desenvolvimento, na quase ex-definítio As limitações do método inflacio nário como processo de financiamen to do desenvolvimento econômico sao sérias. (30) Bastaria citar a dis-
ne, por isso que as necessidades desenvolvimento excedem
mente os recursos para isso disponí veis. O problema não é portanto evitar a pressão inflacionária mas impedir que ela se transforme em inflação aberta, e na medida do íi-
novmalpos
As razões por que a execução dos planos de desenvolvimento das nações subdesenvolvidas tem se revelado
típico é o desenvolvimento brasileiro no período de após-guerra, no qual o pro●cesso inflacionário de redistribuição da renda nacional, em favor dos "entrepreneurs", tem fornecido os recursos neces sários à capitalização. Conquanto um es tímulo temporário à capitalização possa
Já
i)ir.i-:sTO EcosómiC''» 34
f r-
í 9 . ■
C) — O perigo da inflação — Ne nhuma das dificuldades com que de frontam os planejadores supera a da inflação. O desenvolvimento eco nômico se assemelha n uma navega I
uma
(30) A despeito dessns vantagens, o nanclamcnto inllaclonário do desenvol vimento econômico tem sido consciente ou inconscientomento empregado em váExemplo rios países subdesenvolvidos, sível, que .se evite também a infla ção reprimida.
torção do investimentos, que torna atraentes as inversões a prazo mui to curto, de um lado, ou a prazo mais lonjj^o,. (inversões imobiliárias), de outro, com pi-ejuízo das inversões a médio prazo essenciais para o desen volvimento econômico; a pressão so bre o balanço de pagramentos e taxa cambial; a alteração continua da es trutura de custos e preços, dificul tando o cálculo racional da rentabili dade dos projetos; e finalmente o de sestimulo à poupança voluntária e à formação de um mercado ^e cré dito.
V' — A transição do planejamento para a administração
A execução dos planos de desen volvimento econômico encerra difi culdades intrínsecas mesmo pressu pondo-se adequado suprimento de pla nejadores e administradores.
0 primeiro problema que se apre- ● senta é o de saber se as atividades de planejamento devem ou não ser _' separadas das atividades executivas. _t Nos países em que o trabalho de pla nejamento tem sido feito divorciado do trabalho de execução administi’ativa, têm se verificado consequências _^ assaz desfavoráveis, havendo menor _i realismo, por parte dos órgãos pla nejadores, e fidelidade de execução, por parte dos órgãos puramente exe cutivos.
À luz dessa experiência, ganha cor po entre os países subdesenvolvidos, a idéia de se atribuir a uma unida-
' _4 de planejadora central não só a res ponsabilidade programátiea, mas também a de supervisionar a execudos planos pelos diversos depar- çao
tamentos governamentais, por se te rem revelado estes menos interessa dos do que seria convinhável na re pressão à ineficiência, aos. ati-asos e custos excessivos; ao mesmo temtrabalho de supervisão permi- po, o

ser
obtido pela inflação, as distorções inerentes a êsse processo tornam duvido-sa a possibilidade de um ,desenvo!vimento econômico contínuo e equilibrado. A experiência da reconstrução dos países da Europa Central e Oriental .após a pri meira guerra mundial oferece sugestiva ilustração das possibilidades e limitações do financiamento inflacionário da forma ção de capital. Segundo o Professor Nurkse (vide “Course and Control oí InClation”. League of Nations, 1946) duran te a primeira fase do processo inflacioná rio, a fase de "inflação moderada", _o tri buto forçado constituído pela inflaçao re presenta uma adição liquida aos recur sos fiscais e à poupança voluntária. Na segunda fase. a da "inflação desordena da", destruído qualquer estímulo à pou pança e aguçada a expectativa de altas subsequentes de preços, desaparece a possibilidade de financiamento inflacio nário da formação de capital. A primei ra fase teria tido duração assaz prolon gada no período da reconstrução húnga ra, polonesa e alemã durante os vinte anos e curta duração no caso da Áustria e Rússia. Vide "Course and Control of Inflation”, p. 8.
tiria aos planejadores melhor se ca pacitarem dos percalços e dificulda des diárias de execução.
Nos países em que não há uma unidade planejadora central, mas simplesmente grupos de planejamen tos dentro de cada departamento, é mais fácil a fusão das funções programática e executiva, sob a super visão do chefe departamental. Essa vantagem, entretanto, é mais do que neutralizada pela falta de universa lidade do planejamento e risco de inconsistência dos planos, consequên cia natural da multiplicidade de : agências planejadoras. '
O problema da coordenação de planos e de sua realização adminis trativa coloca-se em vários níveis.
Dicesto Econômico G5
í
0 primeiro é o da coordenação o con|," trôle de execução interdepartamental, pt' O segundo é o da coordenação entre fí os planos federais, estaduais e mu nicipais. O terceiro é o da coorde* nação enti*e os plano.s do setor públi co e do privado, com o fito de Kurar a respectiva compatibilidade.
Dentro da esfera
asso-
governamental
.sas estatais ou paru-estutais^ cujas atividades têm repercus são inflacionária ou deflacioná)‘ia e afetam o nível de forma ção de capital;
1-1
dos
I, em qualquer de seus níveis, o instru mento tradicional de planejamento o disciplina de execução c o orçamento (lue nada mais é que o programa dJ ■ açao dos poderes públicos. Tudo isto, entretanto, é matéria sediça pa. ra os estudiosos da ciência admini.strativa. O que é de mais relevância paia os nao profissionais, interossa. planejamento, é a dilatação ' do conceptualismo çam i

01entano. Com o incremento da in tervenção estatal . um lado, outro, a
na economia, de e a febre planificadora, de conceituaçao do oi
c) Dilatação mento iniramonte administrati vo ou W: >rl
jr.’
tende hoje para efeito de planificação o orientação econômica, pelo Or* çamento dos Recursos da Nação, no qual se focaliza a soma total das atividades econômicas da Nação, incluindo inversões pi’i* vadas, despesas dos consuniidoexte- res e transações íyI
a ser completado,
rior. Ao passo que o orçamento administrativo do Estado é sem-
as para r*» incorporação, no orçamento pú blico, dos orçamentos de emprê-
te para a distinção entre de.spesas correntes e despesas de capital, assim como
com 0 pre programático, o “Orçamen to da Nação” abrangendo tam bém as atividades do setor pri vado, pode ser de natureza pu ramente descritiva como o “The Nation’s Budget”, dos Estados Unidos (que se limita, no setor privado, a fornecer estimativas dos investimentos privados, das despesas dos consumidores e do
Dir.KívTO rCí)N
b) Dilatação temporal — Como re sultado mesmo da distinção en tre despesas correntes e despe sas de inver.são (que e.xipem planejamento a mais longo pra zo), a execução orçamentária Anua aplicável às despesas cor rentes, assim como o conceito de eciuilíbrio dentro do ano fiscal, tendem a ser suplementados por orçamentos de capital, financia dos por empréstimos antes que por tributação, e baseados num eduilibrio pluri-anual vinculado a duração dos planos de inver-
sao;
espacial — 0 orça Orçamento do Estado çamonto aofreu uma tnplico dilatação, num sentido funcional, num sentido temporal e tambom no que tange à áre-i ' ou espaço de cobertura do cálculo
oi'çamentário:
a) Dilataçao funcional _ Pg^san. do o orçamento a ser con.,iderado como instrumento de ação tende a deslocar os contrõles monetários tradicionais (redesconto, open market”, etc ) u classificação orçamentária 'tévá que se adequar às suas , funções; daí a tendênci novas a corren
investimento líquido no exterior) ou pode assumir naturc:..; prograinática, quando o Gover no exerce real influência sobre o nível de consumo e de inver sões privadas através de con troles de câmbio, cotas de im portação e outros controles di retos. Os orçamentos nacionais da Noruega e Holanda, por exemplo, figuram nesta última categoria, assim como, a fortiori, o orçamento do Estado So viético, que constitui' um ins trumento de planejamento eco nômico baseado na propriedade estatal dos meios de produ ção. (31)
Importantes progressos têni tretanto sido feitos nos -países subdesenvolvidos no que tange à prepa-\ ração de orçamentos de capital, atra vés de planos periódicos de inversões . públicas separados do orçamento ad ministrativo corrente. (32) disso, a pressão crônica sobre a ba- ● lança de pagamentos, habitual no.s países subdesenvolvidos, tem promo- t vido o desenvolvimento da técnica de n orçamentos parciais de importação 0 do câmbio. A deficiência de esta-^ tística e previsões da renda nacional 3 continua a impedir, entretanto, que se chegue à elaboração do “Orçamen to da Nação”, que requer estimati vas completas dos planos de inversão e consumo.
mento
econômico e controle de execução, a Orçamento dos Rei-epresenta um sôbre
Sob o ponto de vista do forneci-. de base para planejamento Seria demasiada presunção para ^ um economista abordar o problema da coordenação e execução de planos no setor público, perante um semi- ^ nário de peritos em administração pública.
elaboraçao do da Nação cursos grande e óbvio progresso apreciação fragmentária dada pelo oi'çamento administrativo tiadicional. entretanto, poucos jiaíses subdesenvolvidos disporão de aparelhamento técnico e estatístico necessário para a obtenção da visão panorâmica dos diversos componen tes das atividades econômicas, incluíOrçamento da Nação”, tal concebido nos modelos euro-
a Infelizmente, dos no como
Confinar-nos-emos, assim,
modestamente às notas acima, pas- ; sando agora a comentários ligeiros j sôbre a questão correlata de assegu- f rar a execução dos planos governa- 1 mentais pelo setor privado. (33) >
mo no
peus, de tipo programático, ou mesmodêlo norte-americano, de ti po mais descritivo.
(31) Vide "Budgetary Structure and Classification of Government Accounts", United Nalions, New York. February lílSl. Para uma descrição sumária do "Norwegian Budget for 1946" e do "PlaEconómico Central da Holanda para 1946 e Orçamento da Nação", vide Seymour Harris. "Economic Planning". ca pítulos 15 e 16.

no
(32) E’ de notar, entretanto, que os or- ● especiais ou planos de inversão i publica não fornecem indicações comple- i tas sobre a formação de capital nos paí-( ses subdesenvolvidos em que se têm íei- ‘ to ensaios de "Capital Budgets”, por isso ● que_ as deficiências técnicas da classifi- ● caçao orçamentária habitual não permi- , orçamento administrao ordmáno, as despesas de capital, polem iinanciadas com recursos fiscais or- ● dinanos. No Brasil por exemplo, além o inversões do “Plano ®3iie d ü , (hoje, aliás, incorporado ao orça- , mento ordinário) há substancial forma-' çao de capital público não registrado em rubricas separadas no orçamento administrativo corrente.
(33) Vide, sôbre o assunto. Doctor Ma- jJS riqn Clawson "Organizatlon and Administration", em "Formulatíon and Econo-«
4J)u;i--sto Econômico
cn-
Além
grau na-
a) Corporações com participação privada;
11^ !ÍÍ
b) Cooperativas privadas sob i fluência governamental;
c) Contratos
governamenta governamentais o
uprivadas que Se comprometam a execu tar o plano governamental;
d) Controles diretos .. ,. (cotas de cambio,cotas de importação, co tas de matérias-primas, licen ciamento do construção etc )● c
e) Controles indiretos (monetários e fiscais).
* Sôbre as demais formas de con trole, de natureza mais convencional, existo importante experiência mulada tanto em i)aises de economia avançada como cm países subdesen volvidos.
acu-
A aplicação c prau de eficácia dêsses vários tipos do sanção é òbviamonte limitada e condicionada pela conjuntura institucional de cada pais.
Trata-se de terreno om que c impos-
sível generalizar.
L
is ntorgados a entidades da planificação sob forma que redu za a resistência e inércia do setor
0 método de corporações mentais tem tido lata vários países subdesenvolv
em
governa^ aplicação idos ca ; bendo ressaltar a êsse propósito a .. Corporacion de Fomento, do Chile e seu similar venezuelano. ’
O sistema de viculação de empre sas privadas à execução dos planos governamentais através do sistema de contratos foi previsto em ampla escala no Plano Monnet (34), com resultados aparentemente satúfatórios.
mic Appraisal oí Development Projects" part IV. Vide, também, Simon Smithburg. and Thompson. “Public Administratlon”, Alfred Knopf, New York, 1950, capítulo 20.
O planejador, assim como o admi nistrador, têm que desenvolver uma “estratégia de planejamento”, assim estratégia de execução tanto os valores c
como uma procurando apresentar quanto possivel objetivos
privado. (35)
as
. ra a consecuçüo dos objetivos gerais. execução (do plano) deverá ser baseada cm entendimentos contratuais entre as autoridades públicas e a indústria res pectiva, assumindo esta a obrigação de executar o plano e encarregando-sc autoridades públicas de fornecer os meios necessários (créditos, materiais etc.) ou de lhes facilitar a obtenção. Conforme a organização do cada Indústria, podem ser concluidos acordos com um ou mais sindicatos, com grupos de emprêsas, ou mesmo, em casos excepcionais, com emprêsas Individuais. Vide o "Plan de Modernisation et d'Equipement", método de execução do plano, § 7.
(35) Para uma discussão dos aspectos psicológicos e sociológicos da execução de planos, vide SImon, Smitliburg c Thompson, op. cit., cap. 21.

Económi<>> Dk;k.sto 38
O problema da coordenação e com patibilidade — entre os planos do se tor público e do setor privado já foi abordado alhures nestas notas. Em 'termos gerais, os instrumentos de orientação e compulsão aplicáveis pelo Governo ao setor privado po dem ser classificados nos seguintes grupos, escalonados conforme o decrescente de intervenção gover ‘ mental: i 1
Ne.sto contexto, assume particular importância nos jiaíses subdesenvol vidos a criação de uma “mística de desenvolvimento”, capaz de criar for mas de comportamento social conducentes ã aceitação dos sacrifícios ine rentes a qualquer esforço de acele ração da formação de capital em eco nomias pouco distanciadas do nível de simples subsistência.
(34) Citemos o Plano Monnet:.“Nas es feras livres que sao suíicientemente con centradas e cuja importância é vital pa-
CUSTO DE VIDA NO BRASIL^
Dohival TiaxETOA Vieiha s 1
no\o. Adam Smith já se preocupa va em procurar o justo valor das cousas justo salário, definindo este último como u “rcnuinerução condigna dc tra balho capaz de permitir a todos que atividade produtora, masua família”.
(● o exerçam uma nutenção digna para si e
Oi>iu)uli;ma cio custo cie vicia não é vista estatístic*o, puramente quantitativo, o cálculo do custo de vida dependería de dois elementos: da estrutura do or-| çamento de gastos necessários à manu tenção de um determinado padrão de vida e da variação dos preços das uti-j lidados componentes deste orçamento de gastos.
A recuperação da força do trabalivo, a possibilidade de continuar produzindo, estão condicionadas à de consumir. E i in economia monetária consumir signi fica deter cm mãos poder dc compra pura adquirir bens e contratar os serviços necessários á manutenção dc um deterdc vida. minado gênero
A rigor, não iremos tia con.slrução dos índices de custo de vida, porquanto êste é um assunto mui to mais pertinente ã estatística econômi ca que á ttioria econômica. Cuidaremos das basc.s econômicas nas quais se assen ta a técnica
tratar da técnica do cálculo dos índices e da sua interpretação diante trataremos da realidade econômica do país. Isso nos conduzirá forçosamente a indicar quais índices exi.stentes calculados no Bra sil, qual a sua significação real ticar a metodologia empregada do ponto de vista do economista. Não poderemos fazer esta crítica sem tomar um padrão esta envolve
os e a cri¬ do referencia, pois que sempre um problema dc comparação tre o ideal c o real, ideal que nos será dado, forçosamente, pela teoria do custo tio vida.
ennm
Por custo de vida entendemos as dcs~ j)esa's totais necessárias à manutenção de determinado gênero de vida. Daí devermo.s considerar vários elementos necessário.s ao seu estudo; Dò ponto de

dados fá—I variação,
Assim enunciados parecem ceis de colidir e relativamente segura a ^ sua pesquisa. Mas do ponto de vista J econômico esta definição muito simples i nos conduz a considerações da mais alta j importância que devem preceder o pia- 1 nejamento de uma pesquisa deste tipo. Devemos considerar, ainda, a estrutura do orçamento de gastos decorrente do padrão de vida. Precisamos, pois, cíonhccer quais os elementos capazes de nela influir, ou por outras palavras, o que se deve entender por padrão de cida. Será algo uniforme e aplicável incliscriminadamento a tôda a população de uma região, de um determinado país, ou en\'olverá a definição o sentido de e, se tal fôr o caso, de que ' fatores dependerá esta?
Vamos encontrar para padrão de vida duas definições, uma popular, mais cor-, rente e mais aceita, embora mais impre cisa, e outra, . rigorosamente técnica, tpie deve, na realidade, conduzir as pes quisas.
Do ponto de \ista popular, compreon-' de-se ^X)r p.adrão dc vida o conjunto de bens (materiais e imateriais) que indivíduo médio, de uma dada classe, consome em determinado lugar e tempo. É uma definição na qual se tem por ^ centro o consumidor isolado, ou seja, o consumo individual. Mas, esta idéia de
mn
¥ /
indivíduo isolado já alguns clássicos haB viam repelido, afirmando a impossibiliK dade de sua consideração, visto constituir a família o micleo a partir do qual sc & explicaria toda a vida social; quando K mais não fôsse, representaria o grupo caB. paz de reproduzir-se e garantir a con5’ tinuidade do fornecimento de braços, ou seja, de mão-de-obra. O padrão dc vida assim considerado seria o dc uma famí^ lia e não dc um indivíduo isolado.
A jiefinição técnica compreende por padrão de vida o gênero de vida
'● indivíduo médio de um dado grupo conr si e que possa montê
que um -to quando se case c, nesta hipótese, , padrao dentro do qual está certo de manter a sua família após o casamento.
S|^li.sta e a definição de um dos maiores H| economistas contemporâneo.s, Thomas
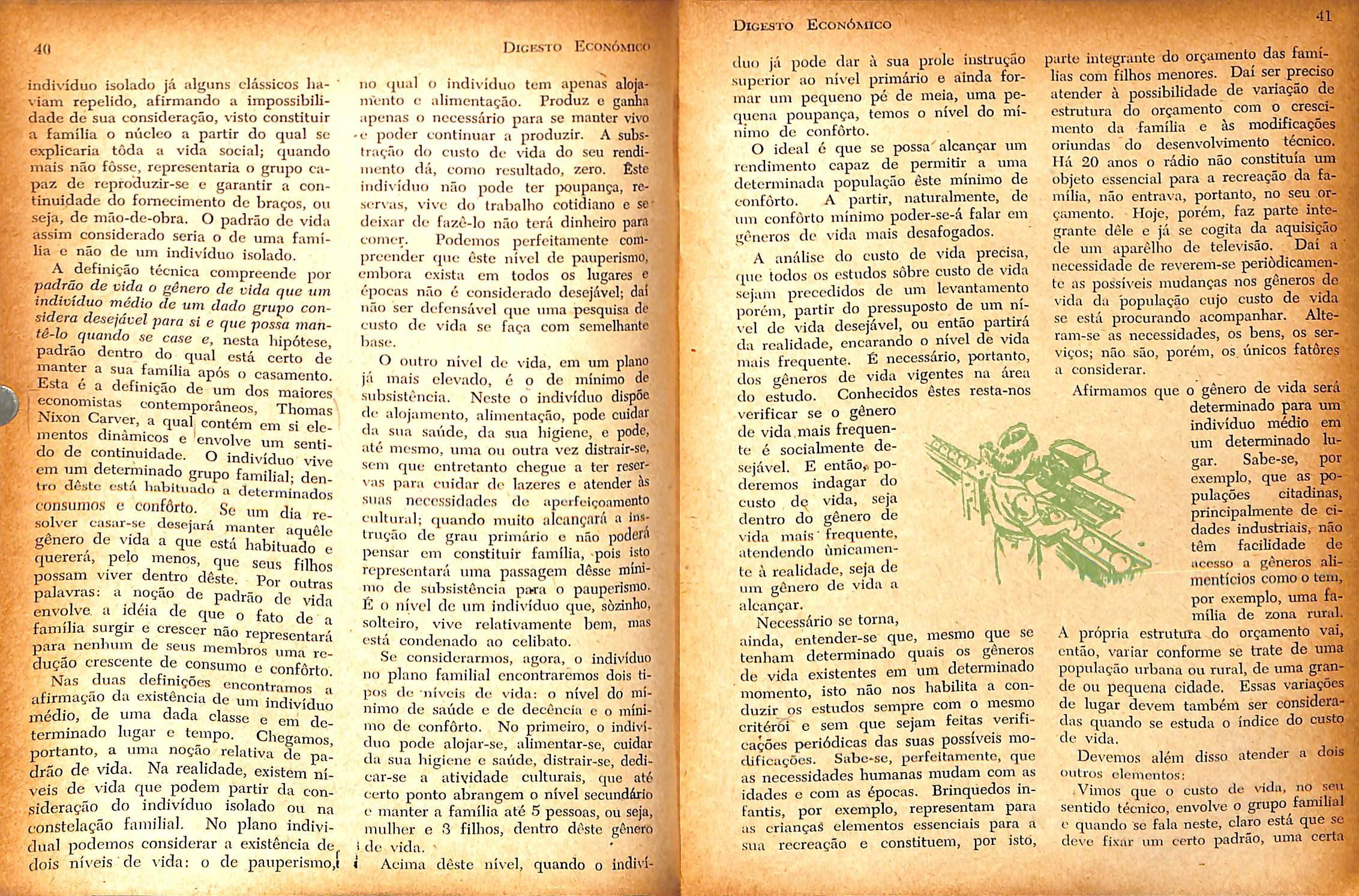
rc● (
comer.
1
K,
solvcr casar-se desejará gênero de vida a y \ quererá, pelo menos, I possam viver dentro deste.
i m que
anter aquele que está habituado e seus fílho.s
1 - , outras O palavras; a noçao de padrão dc vida * envolve a idéia de ;; família surgir e crescer' nao representará para ncninim de seus membros uma rc dução crescente de consumo e confôrto
que entretanto chegue a ter reser'■as para cuidar de lazeres e atender às / suas nece.ssjdadcs do aperfeíçoamonto eiiUural; cpiando muito alcançará a ins trução dc grau primário c não jrodefá pensar cm constituir família, pois istor(‘prcscntará uma passagem dêsse míni- I nio de subsistência píwa o paupcrismO. í£ o ní\’cl de nm indivíduo que, sòzinho, ■ I solteiro, vive relativamente bem, mas está condenado ao celibato.
Nas duas definições encontramos a afirmaçao da existência de um indivíduo
■ médio, de uma dada classe e em determinado lugar c tempo. Chegamos portanto, a uma noção relativa de padrão de vida. Na realidade, existem níveis de vida que podem partir da sideração do indivíduo isolado
conou na
X' eonstelaçcão familial. No plano indívidiial podemos considerar a existência de i b dois níveis de vida: o de pauperismo,! í r--
Se considerarmos, agora, o indivíduo no plano familial encontraremos dois ti pos de níveis de %ida: o nível do mí" '* nimo de saúde e de decência c o míni- ''V mo de confôrto. No primeiro, o indivi-duo podo alojar-se, alimentar-se, cuidar da sua higiene c saúde, distrair-sc, dedi car-se a atividade culturais, que até certo ponto abrangem o nível secundário e manter a família até 5 pessoas, ou seja, mulher e 3 filhos, dentro deste gênero de vida.
I
DlCKSIO Económjc ^ 4(1
no (juiil o indivíduo tem apenas aloja-" mento c alimentação. Produz e ganha apenas o necessário para se manter \1vo ● poder continuar a produzir. A substração do custo de \ída do seu rendiimmto dá, como resultado, zero. Êsle indi\ídmj não pode ter poupança, reser\as, vi\-e do trabalho cotidiano e dei.var de fazè-lo não terá dinheiro paraj Podemos perfeitamente com-í pretmder cpie este ní\el de pauperisino,1 embora exista em todos os lugares épocas não é considerado desejável; dai não scr dí“fensávcl cpic uma pesquisa de custo de vida se faça com semelhante base. !
^ Ni.xon Car\-er, a qual contém em si elcr mentos dmàmicos e envolve um senti● do de continuidade. O indivíduo ^ive ^ em um deternunado grupo familial; dentro dcíila está ImbUnadc, a determinados Se um dia consunio.s e confôrto.
O outro ní%el dc vida, em um plano i já mais elevado, é o de mínimo de" .subsistência. Neste o indivíduo dispõe ^ dc alojamento, alimentação, pode cuidar ^ da sua saúde, da sua higiene, e pode, até mesmo, uma ou outra vez distrair-se, ^ sem
que o fato de a r to
Acima dêste ní\el, quando o indivI^H
duo já pode dar à sua prole instrução superior ao nível primário e ainda forpequeno pc dc meia, uma pcnível do mi¬ mar um quena poupança, temos o nimo dc conforto.
O ideal ó que se possa alcançar um rendimento capaz de permitir a uma determinada população èste mínimo de conforto. A partir, naturalmcnte, dc conforto mínimo poder-se-á falar em de vida mais desafogados. um gêneros
purlc inlcígruute do orçaineulo das famí lias com filhos menores. Daí ser preciso atender à possibilidade de variação de estrutura do orçamento com o cresci mento du família e às modificações oriundas do dcsem’olvimento técnico. Há 20 anos o rádio não constituía um objeto essencial para mília, não entra\a, portanto, no seu or çamento. Hoje, porém, faz parte inte grante dèle e já se cogita da aquisição de um aparelho de tcle\isão. Daí a necessidade de reverem-se periòdicamcnpossí%'eis mudanças nos gêneros dc custo de vida
recreação da fa- a te as vida da população cujo
A análise do custo dc vida precisa, ? todos os estudos sobre custo de vida um levantamento (pu sejam precedidos dc porém, partir do pressuposto de um ni\el dc vida desejável, ou então partirá o nível de vida da realidade .SC e.stá procurando acompanhar. Alte ram-se as necessidades, os bens, os ser viços; não são, porém, os a considerar. únicos fatôre , encarando s mais frequente. Ê necessário, portanto, dos gêneros dc vida vigentes Conhecidos estes resta-nos na area do estudo, Afirmamos que o gênero de vida será determinado para um indivíduo médio em determinado luSabe-se, por um gar.
verificar se o gênero de vida mais frequen to é sociahnente de sejável. E então,-, po deremos indagar do custo dc vida, seja dentro do gênero de vida mais ■ frequente, aterndendo unicamen te à realidade, seja de dc vida a uin gênero
► alcançar.
Necessário se torna, ainda, entender-se que, tenham determinado quais os generos de vida existentes em um determinado população urbi momento, isto não nos habilita a con duzir os estudos sempre com o mesmo feitas veriri-
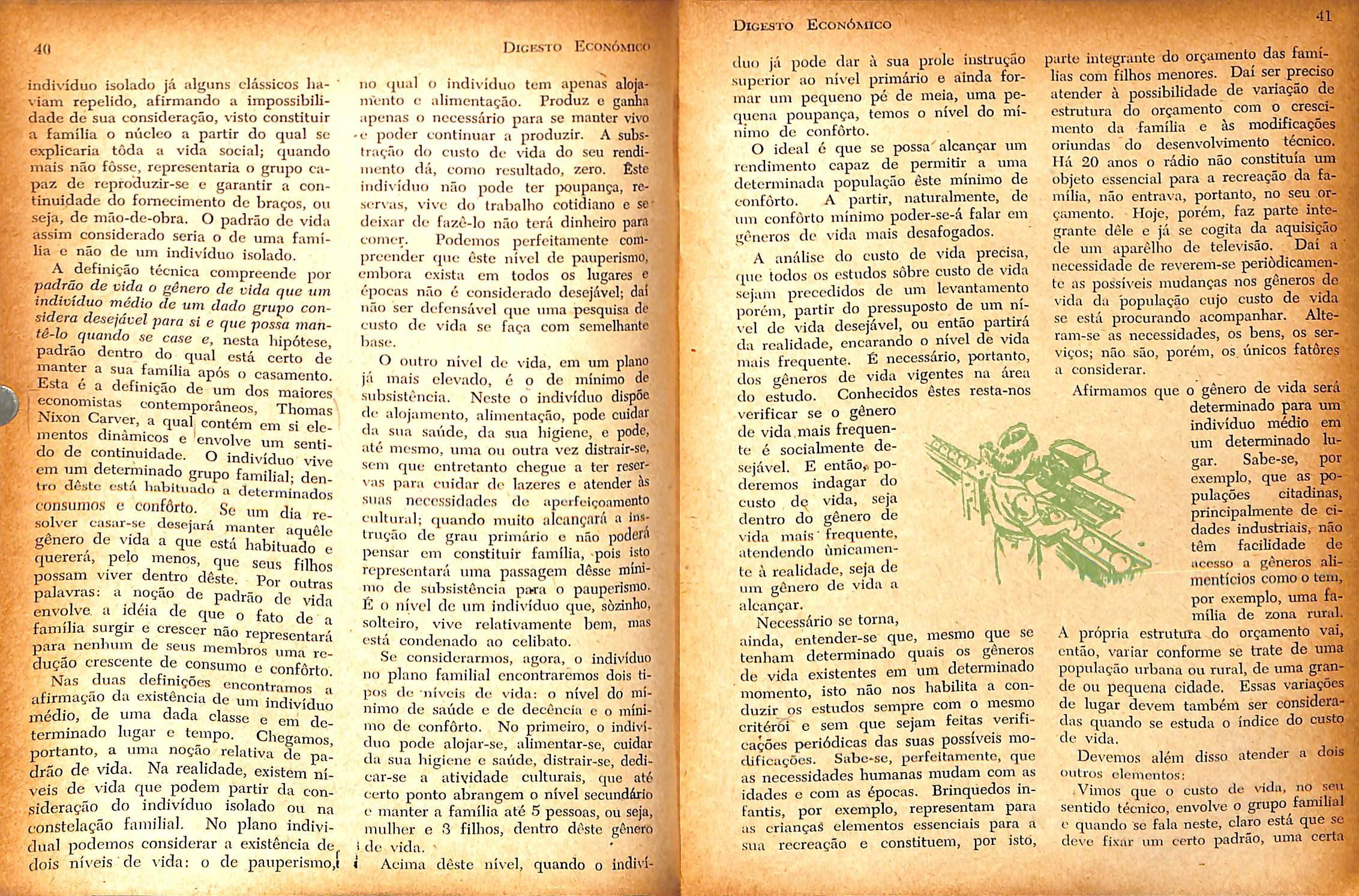
A própria estr mesmo que se m de lugar deve critéroi e sem que sejam
exemplo, que as po pulações ' principalmente de ci dades industriais, não facilidade do
citadinas, têm acosso a gêneros ali mentícios como o tem, por exemplo, uma fa mília de zona rurul.
utuía do orçamento então, variar conforme se trate dc uma rural, do uma granEssas variações
vai. a ou de ou pequena cidade, m também ser considera das quando se estuda o índice do custo dc vida.
outros elementos:
as as recreação e constituem, por sua
custo do vida, nO seu familial se
Vimos que o sentido técnico, envolve o grupo o quando sc fala neste, claro está que deve fixar um certo padrão, uma certa
Devxmios além disso atender a dois cações periódicas das suas possíveis moclificuções. Sabe-se, perfeitamento, que -.j necessidades humanas mudam com as idades c com as épocas. Brinquedos in fantis, por exemplo, representam para criançaá elementos essenciais para a isto.
Dioesto Econômico ' 41
r família típica. Que tipo do família se rá a desejável? Quando estudamos o custo de vida, no Brasil, o critério fre, quente é o de se considerar a família ' ■ noTmal como a mais frequente, ou seja, a composta de cabeça de casal ' certo número de dependentes.
' pesquLsas do Ministério do Trabalho, ■ exemplo, chega-se à conclusão de - a família típica brasileira é formada 4 indivíduos:
cMisto cIc vidu fi(|ue aquém do rcndinien- » to aiifi-riclo.
C) cálcTilo dc um indico de custo de
\iclu sem que seja cotejado com uin ín- i dicc d«' rendimento, não tem grande va- 1 ior para a análise c previsão econômicas. *
, cônjuge
e um Pelas por que por cabeça de casal
^ e dois filhos. Êste critério de fixar como família-padrão a mais frequente, de chegarmos a resultado.s
no caso como os
« encontrados no Brasil,*não .será ideal do ponto dc vista demógrafo-cconómico, por nao permitir, principalmentc cm paím novos, o crescimento da população, g. Ora, nestes e necessário que a mesma m ® jmantenha mas, também, cresça a tim de que a densidade demográfica
'í possa aumentar, chegando a atinfir Z ótimo de população. Ora. se consWargenero de vida-padrão custo dc vida conveniente
a família do 4 membres", estaremos
nios como e como os referentes a um - nao população, como família
padrão, dcmogràficamentc interessante a de 5 membros: cabeça de casal, mulher e filhos.
p Por fim, é ^
f existencia de preciso, ainda considera uma relação funcional tre o custo de vida e o rendimento au ferido pela família. Seu bem-estar é .função do rendimento. Aquela que de.spende tudo aquilo que ganha, embo ra mantendo o nível de vida de mínimo de conforto ou de mínimo de saúde e i decência, acha-se desarmada diante de possíveis acontecimentos excepcionais e indesejáveis: doença, qualquer catástro. fe, perda eventual de emprego, exemplo. Daí ser aconselhável í;
k
por que o
Para o <-conoinista e para o legislador,, ou mesmo para o sociólogo, é preciso ^ íiuc uin acompanht' o outro. É preciso ' sabermos o (jue comparar com o dará iim Acreditamos ter dado os elementos indispensáveis para (juc se possa fazer a crítica das pesquisas de custo de vida no Brasil.

a família ganha para <jue gasta; isto nos índice de bem-estar.
Basta acrescentar apenas, á guisa dc enumeração, quo existem très métodos; dc determinação destes índices: o doi consumo-padrão, ou orçamento teórico,, no qual o mília-padrão dc 4,5
pesquisador idealiza uma faou mais membros.
c \ ai indagar do consumo desejável pa ra que esta família maiítcnha um deter minado gênero dc vida. Fará, assim,, um. levantamento dos bens e serviços necessários à manutenção dé.stc. Con seguida essa relação bastará indagar, ●sistcmàticamcnte, no mercado, qual a \’ariação dos preços desses bens e ser viços c fazer o cálculo do andamento do custo teórico necessário à manuten ção desse gênero dc vida.
O segundo método é o do consuano> familiar
ou do orçamento-tipo
Em: lu gar de supor quais as necessidades e 0i consumo teórico de uma família-padrão,, relativamente, também, a um gênero de vida desejável, distribuem-se cademetase pede-se a um determinado grupo de famílias, prèviamente escolhido pela téc nica da amostragem, indicando quanto cada que as preencha, uma ganha e gas ta. Em função do registro de gastos será possível, então, calcular-se o custo de vi da para esse grupo de famílias. Tere-
J
'ft " 4^ Dk;1.STO EconÒMICíÍ
1
●. postulando que os rendimentos auferi dos com base neste tipo de família nã permitirão o crescimento da Daí aconselhar-se 1
r a cn-
nco, remos um Para o nao se -
custo de vida, não teó- niüs, assim, um mas real; do mesmo modo, não tegênero de vida desejável, mas, um, de fato, existente, economista estes dois métodos doveriam excluir, mas, comple-
■, tar-sc, visto o primeiro nos dar a avauação de um custo de vida teórico, cap^ determinado de permitir alcançar um gênero de vida. A pesquisa familial real, ou do orçamcnto-tipo, concordância
do consu¬ mo possibilitaria verificar a
ulém disso, verificar a adequação rendimento ao custo, ou seja, qual o de conforto, de bem-estar de que Isto grau família
-padrão de fato goza. indicará qual o nív’el de vida, ou trata do desejável ou se deve Permitirá dôste modo entre saláaumento da
a nos seja, se se èste ser elevado. promover um ajustamento rio o gênero de ^'ida, ou o produtividade do trabalho pela melhoria higiênica e cultural do trabaUiador. Paestas finalidades são suficíense dê a maior atenção e maior carinho o estudo do
rece que tes para que se trate com
custo de vida. ou a discrepância cm relação ao padrao. Poderiamos, então, chegar h conclusão, ou dc que a família está gastando abaixo do padrão ideal de gastos, e neste caso. sacrificando o seu gênero dc vida . c passando de um nivel mais elevado para outio o seu gasto efetivo é superior ao hecessárío, levando-se sempre rendimento; neste caso,. 6 possível dizcr-sc que a família está com um sumo superior ao ideal dentro de um determinado gênero de vida desejável.
em reiista o custo de diferentes primeiro, os Passemos agora vida no Brasil: estudos de custo de vida já feitos resultados. em nosso país e segundo, os seus
em conta o con-
Os dois índices, portanto, se compleduas pesquisas deveríam ser não preferir-se uma a outra.
São7 porém, delicadas e dc difícil rea lização Daí a existência de um terceiro ,móíodo, mais que c o do consumo global. Por êste, vamos, apenas, indagar de qual a pro dução anual de uma determinada po pulação em certa zona, dividindo-a pe lo número de habitantes. Verificamos depois o consumo per capita tituímos uma família de 3, 4 ou 5 membros, em função dêsse consumo dividual, anotando a quantidade que a cada família.. Fixar-se-iam, quantidades. Isto feito tertrabalho de observar a decorrer das se-
tam; as feitas e e reconsincaberia assim, as o se-ia, apenas, variação dos preços- no
O nosso mais antigo índice do custo dc vida é o elaborado pelo Serviço de Estatística do Ministério da Fazenda, que começou a ser levantado em 1912, com base na técnica dos orçamentos faA miliares, ou seja, o consumo-padrão. solução foi muito râpidamente dada família de con-

ao problema: 7 membros, da qual foi possível seguir o registro de todas as suas despeêste foi calculado o con-
Tomou-se uma .sas e graças a sumo da mesma. A coleta contínua de preços, por sua vez, permitira ficação do andamento do custo. a venE asíndice dc sim se construiu o primeiro custo de vida. Do ponto de vista cien tífico não tinha e não tem valor. Pn-
meiro, porque a família de- 7 pessoas não representa a família-padrão brasi leira; além disto, seria preciso indagarse de qual o gênero de vida desta, qua a classe de rendimentos na qual pudesse custo de vida.
se eninterquadrava, para que se pretar corretamente o
Por- motivos que desconhecemos, amor á continuidade, êste ín-
seu tal¬ vez por manas, meses e anos, conforme as neDe\’eremos,. da ●essidades dice é ainda calculado-- pesquisa. .
43 Digesto Econômico do
r Outros índices iorain calculados. I£m São Paulo, u primeira tentativa de erii.'contrar-sc um índice do custo de vida
» para a cidade começou em 1934, <|iians do o economista e sociólogo Horace Da’ vies

aejui esteve, lecionando Sociologia , e Economia Política na Escola Livre de ' ^Sociologia e Política. Teve èle a idéia
f de, pela primeira vez, levantar o índice do custo dc vida da classe
O Or. Oscar K^ídio de /Vraújo, iliriJH ^iiido t) Departamento de Estatística da ■ f’refeitura Municipal — Departamento do * (ailtura, retomou a pesquisa do Prof. ■, Lowrie <● clu^^ou, então, a determinar orvaim-nlo-tijío dc uma família, dita ope- ^ rária. ein São Paulo, esta ressalva?
inenie ccjIIict
o Por que fazemos rf Porque, para poder real- ''T
c dos mais, muito
b' cidade de São Paulo. operária, na Contou cenn a colaboração das Escolas Nonnais : cursos secundários, para se distribuírem ' don?' cujo consumo rendi^ ; ''‘-‘gi^trado (consumo e endimento) para posterior recolliimenc anab^sc. As dificuldades foram innmeras. Tornou-se, antes do f dificil
A , « - penetrar no interior das faniíli-perari A is as, que não viam com bons olhos i ci devassa em tôrno do ,,, viver e dos seu modo dc
os ciados com maior rapi* , a Prefeitura resolveu informante.s os empregados da Limpe-za Pública da própria Prefeitu- J ra Municipal. Dc‘ve-.se ainda acrescentar , ji que, para contar com a boa vontade destc’, foi concedida uma gratificação jx;la ' ,J rapidez e exatidão da.s informações pres- ' tadas, tal a dificuldade
dc-z e cliciéiicia, t(H)iar como conseguir ele- em
mentos l)ara a pesquisa. ^
Ora, ao se estudar u sua documenta ção, verjfica-.se que, se .se devesse con siderar como gênero de vida da famí lia operária dc São Paulo o dos lixeiros, estaríamos de pê.samos porque, segundo „ nos
parece registro, porque, u maioria destas'nao f, hnha qijem. com eficiência, pudesse fà
■; de 10.000 caderncLs
íla mais Ijaixa categoria dc empregados umnicij>ais.
■ 'I
1^-chegar a 10* das cadernetas distb™
^ das. Esta primeira pesquisa professor Davies considero ’
^ primeiro ensaio que deveria ser retoma C O, nao sendo possível, diante da eXa do material chegar-se a índice do custo de vida. Três anos depois
1937 o Prof. Lowrie. também"!’ Es-
l» -, cola Livre de Sociologia e Política
no propno u um em ro¬ çar
... . re.s.salva ao índice do custo de vida o dc Prcfeilun como
|&' petiu a pesquisa, procurando alcan maior número de famílias. Procuroí empregar de preferência alunos da pró”
W pria Escola Livre, dotados, portanto, de p maior compreensão das finalidades' da pesquisa e capazes, jwr isso mesmo, de orientar melhor as famílias informantes.
Tivemo.s, portanto, de fazer Tècnicaincntc está bem c<mstniído, mas exprime o custo de vida ele uma determinada camada de jwpulaçao que não é a classe operária de São baulo. , É o que temos em São Paulo, em ma téria dc índices e de determinação de custo de vida: o da classe dos lixeiros.
os ^ ● íu
. v i IPI.I T- / ■ -M UicKsrn rx()S()\tii
\ 1
Ainda esta pesquisa não foi considerada ' satisfatória pelo seu próprio autor. I
, por muito mal que estivesse, na epoca, o operário paulista, teria" um gênero de \’ida hem mellior do que o
A Fundação “Getúlio Vargas”, no Rio dc Janeiro, aproveitando-se do material fornecido pélo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Serviço do Estatística da Previdência do Trabalho do Ministério do Trabalho, coligiu da dos e í‘onstruiu o índice do custo do \'ida, a partir dc 1946, para o Distrito J'’cdeial. Embora ■ não conheçamos
Dicesto Econômico
detalhes da construção desse índice, tecerlcza da sua validade, dado o conhecimento técnico do grupo de pesisadores da Fundação; não podemos, analisá-lo em detalhes, porque cons-
mos a (jUlS. porém, desconhecemos como foi o mesmo
calculadas, enquanto a ponderação para os itens do orçamento da classe média se em números redondos, muito faz duvidar um exprime uniformes
falha:
Iruído. Poderemos, apenas, indicar uma a de ter sido escolhida como fainília-padrão a de 4 pessoas, classe média, cm São Paulo, da Prefeitura
Para a existem dois índices:
Municipal c outro da Câmara Britânica do Comércio. O desta última está cons truído segundo a técnica do orçamento ideal ou do orçanicnto-tipo. Seus de talhes também nos são desconhecidos.
a dizer que o padrão escofamília in.Mas temos Ihido foi o consumo de uma ulésa de 5 pessoas. Ora, a escala de " hábitos de consumo, o preferência,^ modo do vida de uma família inglesa, ainda que residente na cidade de Sao Paulo, não são os que refletem o modo dc vida as preferências, as possibilidades de uma família da classe média tipica mente paulista ou, pelo menos, mais fredcnlro da cidade de Sao Paulo, se fazer
os quente , Há, pois, esta restrição seria a ao índice da Câmara Britânica.
Quanto ao índice da Prefeitura Mumsabemos qual o critério que construção. Ignoramos cipal, não iiresidiu à sua SC
os nem nível de rendimento se
, o que pouco da origem dessas porcentagens. Assim, por exemplo, para a classe opera ria, vcrificou-se que a alimentação absor via 56,84 da despesa total da família Para a classe média, 34 %.
nos dita operária.
Ü aluguel, na classe operária, 16,10: na classe média, 25 %. O vestuário, na clas se operária, 11,09%, na classe média, 13%.
.O arrendondamento é \isível. Qual a origem? Desconhecemo-la e isso nos faz pòr em dúvida o índice para a classe média.
E, para completar, existe ainda um Índice calculado pelo Ministério do Tra balho para todo o Brasil. É preciso que diga que seus dados foram levantados pelo censo sindical, tendo em vista o fu turo reajustamento dos salários. Quanto ao critério, o próprio diretor do Serviço de Estatística da Presádencia do Traballin, cm conversa, nos disse que a pon deração era criticável, embora não nos esclarecesse sôbre a sua razão. De sorte que não podemos dizer até que ponto esse índice é válido.
indica
Mas há alguma cousa que nos haver ainda muito a fazer em matéria foram distribuídas cadernetas e quais informantes, o que é importantíssimo, conhecemos qual o tipo de família e refere a
não se de custo de vida no Brasil, para dizer que há tudo.
a que custo, encontraremos que, para a média, a Câmara Britânica acusa aumento de 40,67 %; a Prefeitura Mum, de 'ida Rio de Ja-
um vista, com que sc ce. Comparando-se os pesos aos \’ários elementos de orçamento da classe dita operária com os da chamada média, verificamos que os primeiros sc unidades c frações de unirealmente
Se forem cotejados, por exemplo, os vários índices de custo de vida existen tes, se fôr escolhido para base o ano de 1948 e verificarmos o crescimento do classe ● pesquisa. Mas há um elemento de re ferência que não devemos perder de ao criticar esses dados, pois^ taz ponha de quarentena o índiatribuídos cipal 4 %. O índice do custo do Ministério acusa, para neiro, imi aumento de 4,7%; o da on juntura Econômica, 10,5%. Tais crepâncias estão a indicar quo algo (s a errado.
o cxprimeni om dade, ou seja em porcentagens

45
.sua SC
um
Se os índices de custo de vida atuais forem válidos estarão a indicar uma si, toação muilo grave para a família-padrão Hrasilcira, da classe operária. To'* mando-se, por exemplo, São Paulo, o Prof. Davics verificou, cm 1934, que a alimentação absorvia 51% das despesas da família. Em 1937, o Prof. Lowrie í mostrou que este tinlm aumentado para 54 % e o Dr. Oscar Egídio de Araújo in dica 56,8%, para 1939. validade das

niniü de .subsistência c dôste último o pauperismo.
O problema não é fácil, dadas í tvnsão (t-rritorial do Brasil e as diferen ças de inan<ira d<* viver de
para í ex regiao para
l região. \’ão tem significação falar-se eni i auimailo ou redução de custo de vida, » ne.sta (»u iia(picla base, citando esta iupiela porcentagem para o Brasil lodo, porque haverá variação de custo de vida entre E.staclos, dentro de cada Estado, entre
Aceitando-se a pesquisas, teremos uma si
-
^ mentação, é evidente que isto sairá dos a, outros Itens do orçamento, do vestuário f tia higienc, habitação, etc. Ora, apena.s como ponto de referência podemos dizer y que pesquisas feitas em períodos norI- mais, em outros países, indicam c,ue a despesa com a alimentação’'deve girar em tomo de 30 a 390;
' mais de 50%, a situação é grave ^'ponto de vista do conforto da família ^
A revista "Conjuntura Econômica” estudando o peso da alimentação no Rio de Janeiro, cliegou ao índice dc 55* apro.vimando-se bastante dos outro, ' ’ medida que se aumenta a proporção' dos J. gastos com alimentação sôbre as dema” despesas, vamos gradativa ‘ do do mínimo de confôrto . ’ de saúde e decência; deste
mente passanpara o mínimo para o mí
rurais.
ou as regiões e entre zonas urbanasi tuação gravíssima; para se alimentar, a família do operário paulista está castànf do cada ‘ - vez mais em relação < gasto total. Se despende mais em ali
f: preciso, portanto, começar por se indagar, e i.si(j até hoje não se fôz, de gêneros de vida vigentes no país, eni função das diferentes regiões geo-cconóniica.s; e uma vez conhecidos ac(;itá-los rá-los estabelecer
quais os como desejáveis, ou consideinsiificjenlo.s e neste último caso o.s orçainentos-padrões ideais
,
neste ponto, Biz-se sentir a colaboraVao da Cadeira cie Geografia Econômica, por e.veniplo. Daí lermos afirmado, logo de início, não haver assunto tiino
E. mais oporpara se comemorar a Semana do Economista. Parece-nos que estudos sólios, bem feitos sôbrc custo de vada teiao de .sair das Faculdades de Ciências
nas necessários do magno problema.
‘ifl Dícesto E(:oNÓ^^^o
^ -
ao seu 1' n t -
Eêonomicas, resultando da conjugação de esforços o da concorrência dos conheci mentos integrantes das várias disciplicapazes cie fornecer os .subsídios ao completo esclarecimento0 J
A TEORIA DO RENDIMENTO NACIONAL E AS DESPESAS DA COMUNIDADE
N'uno Fidklino Figueiredo (Professor ela Escola dc> Sociologia c Política)
artigo anterior (A Teoria Keynesiana ‘Sem Lagrimas’, in T gesto Econômico, n.o 88, págs. 96difícil tarefa de sinassunto

nível elevado; se tiva global num assim fôsse, a tarefa da política eco nômica de estabilização seria bem mais simples do que o é reali- na
Di103) tentamos a t poucas páginas etizar em dade. discutido como a teo- Importa também insistir naquilo que, sob o ponto de vista da teoria do rendimento, constitui a única de finição adequada de investimento. A das definições das variáveis precisão
tão complexo e . , j ria da'determinação do nível do ren dimento nacional ou simplesmente Como nao podia teoria keynesiana.
usadas na teoria é condição insepa rável do êxito de quaisquer medidas de intervenção que venham a ser ba seadas no conhecimento dos fatos e interpretação oferecidos por aque la teoria. na
fazem
nhado
ticulados entre se no aventuraram a
deixar de ser, aí ficaram postas apelinhas gerais do raciocínio nas as keynesiano. Também nao seria ra zoável esperar que êsse esquema su- cinto dissipasse, por si so, todas as mal-entendidos que, aos duvidas e , olhos de grande número de pessoas, das idéias keynesianas um pu de conceitos nebulosos, mal arsi e rotulados com uma terminologia confusa. Neste ar tigo diligenciaremos respondei a al gumas das principais duvidas que mais frequentemente se encontram espírito dos que alguma vez penetrar nos arcanos
da floresta keynesiana e, ao mesmo tempo, acrescentaremos algumas pin celadas ao quadro de cores elementadeixamos traçado no artigo res que
anterior citado.
Podemos desde já antecipar o ca minho que iremos percorrer hoje. As esclarecer encontram-se a Há que proceder cícestões a seguir resumidas,
â discussão das categorias de despeefeti- alimentam a procura sas que pondo em relêvo que não se trata, de manter essa procura efeva, apenas,
incide Observa-se, ainda, que aparente contradição quando nível
Êste círculo
se numa se afirma por um lado que o do rendimento nacional depende do consumo e, por outro lado, que o con sumo varia em função do nível do rendimento nacional, vicioso é apenas aparente, como te remos ocasião de mostrar.
A identidade e a divergência entre poupança e o investimento são, tal vez a mais importante fonte de inter pretações inadequadas da teoria keyTambém aqui existe uma qual reside nesiana. aparente contradição, a
em afirmar que a poupança e o inves timento são iguais por definição e em todas as circunstâncias, e logo em seguida procurar explicar os movi mentos de expansão e de contraçao do rendimento recoiTendo à divergên cia entre os valores dessas duas va-
que, como veremos, a poupança e o investimento que podem diverpir não .são a.s mesmas variáveis cujos va lores coincidem sempre, por defini ção. Esta distinção é com muita fre’’ quência ipnorada até mesmo por pen te do ofício, naturalmente prejuízo para as aplicações à inter pretação dos fatos
de também, de maneii-a inseparável, da subdivisão dessas despesas totais nas várias partes com))onentes. Esta suiítlivisno ü feita de acordo latóres ciue determinam a despesa, nas suas várias espécies.
com prave reais cjue even-
t Finalmente, ainda 's lação.com a questão anteri ta mostrar qual
em es -l treita reor, impovo papel que ao en, tesouramento é atribuído nas idéias ' keynesianas, e como dêsse papel nao ■ influência direta so¬ o investimento.
Jl;, 1. A procura efetiva e a decompo. ●siçao das de.spesas totais n..
Sabe-se que da pende o nível do ; - dimento numa dada geralmente :iír muito
p t V nao se precisa de
rocura efetiva deemprêgo e do rencomunidade. Mas -- uma quais as tem noção
IJ, componentes dessa procura” efeü™ nem da importância dessa Ção para o problema da do pleno emprego dos fatôr
1^1' põe-se, muitas vezes, apenas de manter
composimanutenção
coin os u tualmente pretendam fazer da teoria keynesiana. Assim, numa clas.sificação sepundo os apentos da despesa esta preende três pruiios: despesas dos individuos, despesas das despesas públicas porém, que tomar em conta, si multaneamente, a natureza da despeserá efetuada com bens que ser ou não utilizados no pro cesso produtivo. Quando os bens são ● utilizados diretamente pelos consu midores, ou melhor, pelos consumi dores finais, as despesas com eles efetuadas constituem o consumo, c qual pode compreender tanto bens e serviços de consumo imêdiato, isto é'/ que desaparecem em resultado do próprio ato de consumo,(alimentos em peral, serviços de transporte, etc.), como bens de consumo durá veis, isto é, que satisfazem necessi dades
es.
Suque se trata nas mãos do públi co uma certa soma de poder a vo mais ou menos constante,
jL tal política de “crédito social
f.
e que po-
● dei'á eliminar as flutuações do nível do rendimento e do emprego. Estas
^ idéias nâo traduzem uma interpreta-

È.: ção adequada dos fatos, no entanto.
^ Nem correspondem a uma imageni
L fiel do esquema teórico da formação
fci do rendimento.
com¬ empresas o üu do Governo. Há, lista sa. podem o ou prestam serviços aos indi
Quanto a estes bens duráveis, pai-a que se justificasse plenamente a inclusão das despesas com êles efe tuadas entre as despesas de dos indivíduos, consumo seria necessário que se tomasse epi conta, em cada apenas a parte do custo do bem con siderado SI
ano, correspondente ao serviço prestado nesse ano. Isto é, se uma
OrcRSTo Rr
A chave cio esclarecimento desta importante ciuestão está em navets. O funcionamento do sistema economlco depende da manutenção de um certo nível í^lobal de despesas totais efetuadas na comunidade ru efetiva, sem dúvida. ou procuMas depen í:
y )
aquisiti-
víduos durante um espaço de tempo mais ou menos longo (automóveis, geladeiras, rádios, etc.)
veis, na sua totalidade, como des pesas de investimento efetuadas pe los indivíduos.
Quanto às empresas, é claro que aí somente se efetuam despesas de in vestimento. O consumo imediato dos indivíduos que das empresas fazem parte (operários, diretoi'Os, etc.), evidentemené computado entre as despesas de consumo dos indivíduos. As des pesas das emprêsas são, portanto, apenas as que se aplicam em bens des tinados a serem utiliza dos no processo de fa brico dos produtos (ou serviços) com os quais as emprêsas contribuem para o rendimento nacional. Essas despesas são efetuadas com bens de capital ou bens de produção, os quais podem sei' de utilização imediata no processo produtivo (como matériasprimas e produtos semi-acabados) ou duráveis (como máquinas, equipa mentos e edifícios), estes últimos prestando serviços à empresa duran te um cei»to lapso de tempo mais ou ipenos longo de acordo com a sua natureza. A totalidade das despesas

(Ias empresas constitui o investimen to das empresas.
Convém ter presente que o termo durável refere-se não à duração in trínseca do bem considerado, mas.ao período durante o qual êsse bem po de ser consumido. Certos bens de
te.
iftílucleira dura, em média, de/, ano.s, deveria em cada um desses dez anos incIuir-se entre as- despesas de con sumo do seu possuidor um décimo do seu custo. Êste processo é, maniíestamente, pouco prático. Mais nu merosos seriam os problemas que fa.surgir do que os problemas resol- ria consumo imediato, isto é, não durávidos. O procedimento adotado cor- veis, podem ter uma duração intrínventemente consiste, então, em con siderar seca muito grande, como os gêneros alimentares enlatados ou mesmo cer as despesas com bens durá tos produtos vegetais, quando devi damente conservados. No entanto, esses produtos desaparecem no ato do consumo, motivo por que não se classificam entre os duráveis. E’ claro que a distinção entre bens de consumo imediato e bens durá veis é mais de grau do que de substância; exis tem bens que consti tuem uma transição gradual de uma espécie para outra espécie, co mo os artigos de ves tuário, que prestam ser viços aos indivíduos du rante algum tempo (al gumas vezes chamados bens semiduráveis).
As despesas do Go verno podem ser de consumo e de investimento. As despesas de consu mo não correspondem, evidentemen te, ao consumo corrente dos funcio nários do Governo, pois se assim fos se ter-se-ia uma düplicação resultan te de já havere
essas despesas sido m duos.
registradas em relação com a quali dade de consumidores dêsses indivíAs despesas de consumo do Governo abrangem apenas as despe sas com bens de consumo imediato distribuídos gratuitamente pelo Go-
® Dicrsto EcoNÓ\nco
●íí)
\
verno população, como buídas às crianças * Governo.
à população, geralmente em situações de emergência, ou faculta dos normalmente a certos grupos d«i as refeições distrinas escolas do No Braáil constitui fonte
íz de despesas dêste tipo o fornecimen' to do “cafezinho”, habitual em tó-
f.■ das as repartições públicas. O inves[■’ timènto do Governo é constituído pe los gastos públicos com bens de capiI tal, que se adicionam ao capital so cial da comunidade.
2. O nível do rendimento nacional e o consumo
Temos, assim, os cinco elementos da procura monetária total (ou proe ser- cura efetiva) das mercadorias viços de produção corrente, dos y depende o volume do rendimento. Convém notar t da aqui, mantemos a que mesma s
quais emprego e do , ainimpli ficação adotada no artigo anterior, afastando da cena as complicações l resultantes das transações interna cionais e das atividades mentais. governa-
diligenciar fazer luz, por um lado, | sôbre os motivos que presidem às de cisões de gastar de cada um dos agentes referidos, decisões referentes tanto ao montante dos gastos como ao momento da sua efetivação; e, por outro lado, sôbre as consequên^cias parà o funcionamento do siste ma econômico (por outras palavras, sôbre o nível do rendimento o do em prego e suas alterações) das varia ções das despesas de cada uma das espécies referidas (bens de consu mo imediato, duráveis e bens de ca pital). Conseguindo atingir êste ob jetivo torna-se claro que se terá re solvido a principal dificuldade da in terpretação do mecanismo de forma ção do rendimento nacional.

ou na na êsses atributos.
as emprego e „ agora, à vista. Se o rendimento é constituído pela.s cinco espécies de despesas acima re feridas, importa investigar quais as causas específicas das variações de cada uma dessas espécies de despe sas. Cada uma daquelas subdivisões se distingue das restantes no agente que efetua a despesa (isto é, que to ma as decisões relativas à despesa) natureza da despesa (isto é, natureza dos bens com os quais é efetuada a despesa), ou em ambos Há, portanto, que bL
Estamos, portanto, muito longe do simplismo que atribui à variação do montante global das despesas da co munidade (sem considerar a compo sição dêsse montante) a virtude de poder explicar as variações do ren dimento nacional. De resto, êste re sultado foi alcançado em boa parte em çonsequência de esforços desen volvidos posteriormente ao apareci mento da General Theory. 0 proprio Keynes não atribuía grande impor tância à decomposição das despesas totais, a não ser entre despesas de consumo e despesas de investimento. E como as despesas de consumo, na sua construção, variavam em função do nível do rendimento nacional (re lação essa dada pela propensão para consumir ou função-consumo), em resultado de características psicoló gicas consideradas muito arraigadas e estáveis em cada comunidade, dêsse setor não podiam advir influências importantes, estimulantes ou depres-» sivas, para a determinação no nível
Dicií:sio Econômico
O caminho a seguir para elucidar o mecanismo do qual resultam variações do volume do do rendimento está,
do rendimehto nacional. Recaíam sobre o setor das despesas de inves timento, então, todos os esforços des tinados a procurar explicação para as flutuações do rendimento.

Êste ponto de vista estritamente keynesiano está hoje sensivelmente ultrapassado, pelos próprios econo mistas de formação keynesiana. Ve rificou-se que outros fatores, além do nível do i*endimento nacional, in fluem sobre o volume das despesas de consumo que os indivíduos se. dis põem a efetuar. O nível geral dos preços e a previsão (em boa medida de natureza subjetiva) que os indi● víduos fazem da marcha dos preços no futuro próximo, são fatores im portantes, cuja alteração em certos momentos pode ocasionar alterações paralelas nas decisões de consumir dos indivíduos. Assim, em épocas de brusca dos preços (movi- variaçao
mentos inflacionistas ou deflacionistas pronunciados), poderão notar-se ~i volume das despesas de dos indivíduos que são indevariaçoes no consumo '
pendentes das variações do nível do rendimento nacional. Esta influên cia de outros fatores, além do nível do rendimento é difícil de conceber no quadro da propensão para con sumir keynesiana.
Para resolver esta dificuldade ad mitiu-se a instabilidade da propensão para consumir em vigor num dado país, no decurso do ciclo econômico. Isto é, continua a admitir-se a exis tência de uma relação funcional de-
finida entre sucessivos montantes globais de despesas de consumo e os níveis do rendimento nacional dos quais são tiradas essas despesas de consurpo. Mas essa relação (a pro pensão para consumir) é in.stável,
variando em função das antecipações dos preços futuros efetuadas pelos consumidores.
O que é e o que não é mento” investi- 3.
Antes de prosseguir precisamos de pôr os pontos nos ii a respeito do que constitui o total das despesas de investimento. Já no artigo anterior colocamos de'sobreaviso o leitor so bre a nécessidade de distinguir entre investimento real e investimento fi nanceiro, apenas o primeiro sendo do interesse para a teoria do rendi mento.
O investimento real, ou simples mente investimento, representa o au mento da existência de bens de capi tal ou bens de produção, sejam má quinas, edifícios ou estoques de ma térias-primas ou produtos semi- aca bados. Mas frequentemente o termo investimento é usado para designar o total das despesas efetuadas com a aquisição de tais bens de capital. De acordo com uma convenção adotada
, as despesas dos consumidores bens de consumo duráveis também constituem investimento às despesas das empresas em bens de capital. As obsei’vações que esta mos fazendo, no entanto, referem-se ao investimento das
em e somam-se , . empresas.
~ da maior importância notar que nao as a que uma emprêsa adquira uma maquina ou instalar uma fábrica nha um ato de i tido
um edifício para para que se te- investimento, no senque é relevante para a teoria economica. E’ indispensável que essa máquina tenha sido produzida no período em curso ou que êsse edifí cio tenha sido construído período, isto é, aquelas despesas sôno mesmo
ir ~ Digesto Econômico õi
mente deverão classificar-se como despesas de investimento se repre sentarem atos prévios de produção coiTrente, isto é, no período considelado. De contrário, ainda que se destinem a um efetivo ato de produ ção, aquelas despesas não represen tam investimento real, investimento financeiro, a simples transferência de bens já anteriormente existentes de mãos para outras mãos. dizer que não é suficiente definir investimento como a aplicação de capital em bens de produção. Tornase necessário acrescentar: bens de produção produzidos no período em curso.
mas apenas implicando umas Quer isto o um
la global ou da comunidade, por aqui lo que, 9ob o ponto de vista de outra ou outras empresas constitui um desinvcstimento ou investimento nega tivo ía venda da máquina e do edi fício), de tal modo (luo, no final, o investimento na escala da comunida de foi inexistente. Apenas as tran sações que tenham atrás de si opera ções prévias de fabricação corrente, portanto, constituem investimento real, sob o j)onto de vista da comuni dade.
em nova unimomento aquisição pela
O têrmo desinvestimento ou inves timento negativo é antes reservado pai'a a diminuição dos bons de capi tal resultante do seu desgaste ou da sua utilização no processo produti vo. Essa diminuição, ainda quando verificada apenas numa empresa, re flete-se no decréscimo do capital so cial da comunidade e contribui para diminuir o investimento líquido.
e só nesse momento, fazer parte do aparelho de da comunidade.
empresa a produção Sendo assim essa , simples aquisição do edifício máquina já existentes e da i'epresentaria, apesar de tudo, um acréscimo dos meios de produção à disposição da comunidade.
Insistimos em que de tal ção acima referida não resulta acrés cimo dos meios de produção à dispo sição da comunidade, isto é, investiIsto porque, aquilo
aquisimento real.
que einpfêsa uni-
sob o ponto de vista exclusivo da constitui um investimento (o aparelhamento de uma nova dade fabríli mediante a apllcaçãp dc um capital) é anulado, na esca-
Da totalidade de bens de capital correntemente produzidos, uma certa proporção destina-se a substituir má quinas, equipamentos, etc. que foram “consumidos” nb decurso das opera ções da fabricação. O montante dêsse decréscimo dos bens de capital constitui um desinvestimento ou in vestimento negativo, num sentido real (e não puramente financeiro, como quando (a^pliciado à empresa atrás referida, que vendeu a máqui na e o edifício).
O investimento líquido da comuni dade, num dado período, será igual ao montante das despesas com bens de capital produzidos no mesmo perío do, deduzida a importância das subs tituições de amortização efetuadas no mesmo período.
E’ evidente (]ue, dêsto modo, po dem verificar-se situações nas quais

*x' ●' Dict.sTO Ecoxó.Miro 52
R* -I
Poderá objetar-se que um edifício ou uma máquina que se encontr “encostados”, portanto sem dar qual quer contribuição para a produção do bens e de serviços da comunidade uma vez adquiridos por uma empresa que com êles organize uma - dade fabril passarão nesse — em resultado da ‘ >
mais elevadí^) o investimento líquido seja negativo. Tal acontecerá quando os bens de capital de produção corrente não se jam suficientes para’ cobrir os claros no aparelho de produção deixados pe las substituições de amortização. Es ta possibilidade, como veremos mais tarde, não é apenas teórica; é uma possibilidade efetiva, e da qual resul tam importantes consequências para a interpretação dos períodos de acen tuada contração do rendimento na cional.
4.
Existe um aparente círcul^o vicioso nas relações entrê o rendimento e o consumo, o qual importa desfazer. Por um lado, o nível do rendimento nacional depende do consumo, isto é, as despesas dos consumidores (as do Govêi*no, que são muito menos im portantes, podemos colocar de lado sem prejuízo da análise) vão dar luintermédio das empresas gar, por
ferente, geralmente , do nível do rendimento naciona
Mas, por outro lado, não e menos verdade que o môntante das despesas ^ de consumo depende do nível o ren ^ dimento nacional (admitindo cons antes as outras variáveis a que nos leferimos atrás, em especial as an ecipações dos preços),
dêricia ‘está consubstanciada na piopensão para consumir em vigor na comunidade em causa e dela resulta que as despesas de consumo globais serão tanto mais elevadas quanto mais elevado fôr o nível do rendiIsto é, o montante
Essa depenmento nacional,
das despesas de consumo em valores _, absolutos é uma função crescente (e, em valores relativos, uma função de crescente) do nível do rendimento.
Temos pois que, por um lado, se
afirma que o nível do rendimento nacional depende do consumo e, por <: 'outro lado, se acrescenta que o con- N sumo varia, em função do nível do rendimento nacional. Não há círculo que realizam pagamentos aos fatores de produção, aos rendimentos do tra balho (salários e ordenados), do ca pital (lucros, dividendos e juros) e da terra (rendas) que, na sua tota lidade, constituem o rendimento na cional. Sabemos que também as des pesas de investimento vão alimentar o rendimento, mas podemos na disdêste caso deixar o investi- cussao
vicioso nesta dupla afirmação por que ela corresponde, no fundo (já que as duas relações de dependência citadas são diferentes entre si), ao _q estabelecimento de duas equações a duas incógnitas (o consumo e o ren-'_i dimei^to), fàcilmente resolúveis, em _; cada caso. A chave da questão reside em que se conhece a maneira co mo C depende de Y
mo Y depende de C. meio de
, como assim é, fazendo votos por que '4 '_I o leitor avesso às matemáticas se _« não deixe intimidar por tão modesta incursão algébrica. i

.'l I e a maneira coVejanios, por um exemplo muito simples mento de lado, ou supô-lo constante, ou ainda fazê-lo igual a zero. Exis te, portanto, uma relação de depen dência entre o consumo e o rendimen to, êste dependendo daquele, pois uma dada variação nas despesas de consumo dos indivíduos refletir-se-á
Admitamos que não exista investi mento, isto .é, que o rendimento na cional, na sua totalidade seja gerapor uma variação no mesmo sentido (ma.s de uma ordem de grandeza di-
A oo DkíICSTO Íüconómico
3
J
Um aparente círculo vicioso
*;
.
L
tos assuntos, não é difícil encontrar . passapens onde a contradição — vÍ3-4 tas as coisas sem uma análise maisl
nur. t A dependência do consumo lação ao rendimento (a pr em reopensão para consumir, como se chama a funj ção que relaciona as duas variáveis) f- dá-nos a segunda equação, a qual l* . pode apresentar, por exemplo, "jK, guinte forma: a se-
<4-
onde Y representa o rendimento cional 0 C a totalidade das despesas de consumo da comunidade.
C = 80 0,75.
do apenas pelas despesas de consu mo, em A dependência do rendimento relação ao consumo é dada pela primeira equação: Y = C cuidada — 6 profunda. M A razão está em que tem que seri feita uma distinção entro a poupança* e o investimento efctivamonte ver»-1 ficados, isto 6, observados ou registi-ados num corto período de tempo jja.ssado (sentido (lue em Teoria Eco-^ nómica se pj-etende resumir na e.^cpi-essão ox post) e a poupança e o inve.stimento que, respectivamente, os consumidores e os empresários! desejam ou tencionam efetuar no fu-i turo imediato (sentido simbolizado pela expressão ex ante). ■
(Y _ 80) ções;
Y = 80 -f 0,75. Y — 0,76. 80
60 X
Resolvamos estas equa A poupança c o investimento efe-1 tivamente verificados são sempre j iguais, por definição, em tôdns as I circunstâncias. Por definição, por-f ciue a poupança é definida como a parte do rendimento não consumida e 0 investimento como a parte das despesas efetuadas com bens que não de consumo imediato ou som o obje tivo do consumo imediato. Dêste mo do, a poui)ança e o investimento não mesmo total observado sao senão o
Y - 0,75. Y = 800.26 Y = 20 Y = 80.
Verificamos, ções entre o consumo assim, que as rela® 0 i'endimento, e yice-versa nao constituem um círculo VICIOSO. No exemplo que tomumos em face das relações assumidas por hipótese, o nível do.rendimento nacional fixar-se-ia em 80
do dois pontos de vista diferentes, o do rendimento (poupança) e o das despesas (investimentos), pontos do vista que são equivalentes na análi se da formação do rendimento, como
5. .A identidade entre < e o investimento a poupança vimos, r
afirmaçao da impossibilidade de rem diferentes os montantes da sepança e do investimento, com^ se depara com raciocínios baseados hipótese da existência de um excesso da poupança sôbre o investimento, ou vice-versa. No próprio livro de Keynes, que ainda hoje é básico ne.s-

na
A poupança e o investimento pre- i tendidos para o período seguinte | (ainda não efetuados, portanto) é que ] podem ser diferentes. Como as de- j cisões de poupar e as decisões de investir são tomadas independente mente e por grupos diferentes de in divíduos — proposição fundamental da teoria do rendimento muitas vêzes esquecida — é muito provável, em
▼rr ●t:Dicesto EcoNÓMirn 54
ifi f ●
fX:''
Na exposição da teoria do rendi mento tão depressa Se encontra a t V
I
^acla cias
luto como em valor relativo) do ren dimento. caso, que a soma das importànque todos e cada um dos indi'^idiios, como consumidores, desejam P°upa^. riQ futuro imediato seja di ferente da soma dos projetos de in'^estiniento de tôdas as empresas. Os motivos que presidem às decisões de ^^vestir são grandcmentc difeientes motivos que presidem às decisões pou])ar, e daqui resultará provà velmente, quase sempre, uma diverffência entre a poupança e o investi-
Se, num dado período, aumenta o investimento, o rendimento aumenta também (e mais do que proporcional mente, em virtude do multiplicador referi- de investimentos, a que nos remos noutra ocasião) pois, as despe sas de investimento, juntamente com as de consumo, constituem a origem do rendimento. Se a propensão parn poupar da comunidade se mantém inalterada, dêsse nível mais alto do rendimento resulta um montante de ^cnto projetado.s'para o futuro imediato. Mas não quer isto dizer que êsses montantes diferentes de poupança e do investimento possam cfetuax'-sc. Dessa divergêqcia potencial, Po início do um período, resultará o funcionamento de um mecanismo au tomático de ajustamento que tornará ií?uais, no fim do período, os montan tes da poupança e do investimento ‘lue os consumidores e os empresáríos entretanto terão conseguido efe tuar.
Vejamos qual o efeito sôbre o sis tema econômico ou, mais concretamente, sôbre o nível do rendimento nacional, de um excesso potencial do investimento sôbre a poupança, isto ô, do fato de o montante que os em-presários estão dispostos a investir ser superior à importância que os consumidores desejam poupar do seu rendimento corrente. A disposição dos consumidores relatívamente à poupança mede-se pela proporção do rendimento que, em cada nível do mesmo, os consumidores desejarão poupar, e não pelo valor absoluto poupado, independentemente do ní vel do rendimento. Assim é porque
reau-
Êste restabelecimento do equilíbrio, isto é, da igualdade entre a poupança c 0 investimento por um lado, e da estabilidade do nível do rendimento' nacional por outro lado, foi obtido' por intermédio de um aumento do ní vel do rendimento,.que assim “se vê desempenhar o papel de mecanismo de ajustamento das intenções dos in divíduos a respeito da poupança e das intenções dos produtores a i'espeito do investimento.” Portanto, uma vez que se trate de poupança e investimento já realizados, essas duas variáveis serão sempre iguais, o que no entanto não impede que sejam diferentes a poupança e o investição crescente (tanto em valor abso- mento na escala individual.

55 ●o Econômico
i I
poupança mais elevado (tanto em valor absoluto como em valor rela tivo). Logo, em consequência do' aci*éscimo do investimento inicia-se um processo de ajustamento em sultado do qual o rendimePto nacio nal se fixa num nível mais alto, tal que nesse novo nível a poupança mentada (já que ela é função do ren dimento) se torna igual ao volume de investimento que os empresários con sideram lucrativo efetuar. 1 I
montante da poupança é uma fun- o
fk
papel do eutesouramenlo na teoria keynesiana
.4 ■X '»N-
K
O investimento é sempje e pelo
■ pança isto é, o entesouramento ● não exerce influência sôbre o nível do rendimento de maneira direta
,
j)üis não influenciii u processo de« equilíbrio cia poupança e do investi-* mento. Sc cada ato de poupança in- ' dividual ocasionasse automàticamento um ato de investimento equivalen te, como se acreditava geralmente antes do aparecimento da General Theory de Keynos, então o aumento do entesoLiramento poderia provocar o decréscimo do investimento e, por tanto, a contração do rendimento na cional. Mas esta é tipicamente uma posição i)ré-keynesiana em face do l)i oblema da formação de rendimento. O entesoLiramento não pode influen ciar de maneira direta o investimen to porque o volume dêste é decidido pelos empresários por motivos pro pícios e de maneira inteiramente in dependente da atitude que, relativa mente à aplicação da poupança efe tuada, possam tomar os indivíduos. Indíretamente o entesouramento pode exercer influência deprimente sôbre as despesas de investimento, mas através da taxa de juro, que é um dos fatores nos quais os empre sários se baseiam para decidir o vo lume do investimento. Mas êste é um outro 'problema, estreitamento associado à discussão dos fatores de terminantes do volume do investi mento, o qual deixamos para o pró ximo artigo.

WWf k Díci-:fiTO Kcokónui
* ^
p' lí
Convém ter sempre presente, ainda uma vez, ciue as possibilidades de es colha que se oferecem aos indivíduos, na aplicação do seu rendimento, são apenas duas, o consumo e a poupan ça. E' um êrro aceitar que aos in divíduos se oferece a possibilidade do escolher entre a poupança e o inves timento, efetuado pelas empresas e em nada depende do comportamento dos indi víduos relativamente à poupança. Igualmente inadequada, mesmo motivo, é a aceitação de que a alternativa para o investimento é .
k o entesouramento. O investimento é efetuado pelos produtores (pondo de lado, como dissemos atrás, vestimento dos consumidoi’es, tituído pela aquisição de bens de sumo duráveis), enquanto tesouramento pode ser praticado pe los indivíduos, na qualidade de midores.
o mconsconque o enconsu-
A manutenção de uma proporção da poupança sob a forma monetári:. e afastada das transações correntes do indivíduo que efetuou essa ífÇ^ ir
la pou
A PRESSÃO FISCAL É A tEQHl
i/lENTARIA DO DÉFICIT SISTEMATICI
BElÍNAnD Pajiste
(Professor da Escola de Sociologia c Política)
Oclássicos, que definem o equilíbrio como n balança con- orçamentário
tábil entre os recursos e as despesas púfinanceira a blicas, deram a essa regra maior imiiortáncia, considerandomo como a primeira condição para ter finanças sãs.
7 Além disso, pensava-se que o equilírealizado
a mesbiio orçamentário deveria ser assegurando os recursos apenas por meios ordinários, e\itando ° lado permanentemente cndividátío. O estar endividado cra condenado cm suas duas modalidades: interna, porque po-
^ deria copduzir, finalmentc, ao repúdio
‘ dessa dívida c, portanto, h ruína dos que consentiram o ^^mpréslimo^; e externa, porque, segundo as experiências sofridas pelo Egito c pela Turquia, no início dôstc século, acreditava-se que conduzisse ã perda da independência do Estado de vedor.
O abandono da conversibilidade ino- J netária, que quase se generalizou depois H da primeira guerra mundial, abriu cami-^ nbo i\ inflação e a estampa de cédulas* foi acrescentada, a título ordinário, aos* impostos c aos créditos, a fim de equi-^ librar a balança contábil entre recursos ^ e despesas piiblicas.
A noção de equilíbrio orçamentário se * transfonnou, portanto, perdendo seu ca--, rátor contábil exclusivo, em benefício ^ dos elementos financeiros (moeda e cré- i dito). Mas, a evolução do pensamento J financeiro não atingiu sua ● última fór- I mula.
. nicsmo no capitalista e a
»■
tos da URSS deram mesmo ao crédito interno o mesmo caráter de meio ordi nário, como acontece com os impostos ; os créditos são anuais, prèviamente estabelecidos e, na realida de, obrigatórios. A economia capitalis ta aplica também as diversas formas de economia compulsória e pratica preferl● \ olmenle o crédito externo.
A ligação entre o fenômeno do dese- 'j cjuilíbrio orçamentário e o problema dos J preços, com seus efeitos sôbre o con- ii3 sumo e .suas interferências sociais, oferocia aos economistas novas perspectivas *À para a revisão constante de suas doutri nas e teorias. A noção se ampliava a tal » ponto que o orçamento e, cspecialmentc, ] a idéia de equilíbrio orçamentário, dc\’cria rcfletií o equilíbrio de toda a eco nomia nacional. *3
O professor Maurice Duverger (1)
.sunie a posição mencionada, ã qual chegaram os financistas, na passagem sc-_i gninte: * j
“Muito diferente, pelo contrário, é a concepção de um equilíbrio nacional, ^ <iuc corresponde à noção moderna do fi- ■ nanças públicas. Seu ponto de partida 3 consi,stc cm distinguir, cuidadosanientc, j realidade 4
re- 1 as aparências contábeis e a
(1) Maurice Duverger: Publiques", Presses France, 1950, pág. 104.
‘Les Finances ^ Universltairos cie ,

í'
ih!
T'
í
* ► I
relativa aos meios ordinários do Hoje, a concepção para assegurar os recursos orçamento evoluiu bastante e os impos tos dividem de maneira corrente o en' cargo de coletores ■ das contribuições ' ‘ públicas com o crédito. O fenômeno é o quadro de duas economias, a socialista. Os orçamen1
com montantes
● ●cün/nnica <●
cpie
social; pouco imjx)rtu, no as cifras das despesas o essencial é maneiimen-
se pilalista. Ju descinprègü. é (jiM‘ é prc-fcrível j^aslar e aumentar o? cnnsuino, a poupar stun realizar investi-’ inciitf)s. () Hcilo do dcscinolvimento coiiMiino será sentido dc maneira posili\ a pela jírodu(,-ão, (juc'poderá assemirar o pleno emprego.
*.e«yuiljbrein exatainenle ; ‘■que o conjunto da na<,ão vi\-a de ra ecjuilihrada. O desequilíbrio orç; tário c fin.;nc<*iro só tem importância na medida em fj\u- acarreta brio econômico, isto é, cjue enfraquece a cionul. ”
A conclui (\i,
um desequilina medida produtividad 01 n c na-
MaLs longe ainda vai a teoria de Ke\ues dcsens-olvida também por seus diV Cipulos. (2)
A idéia
t , em algumas condi ’t,'oes, o desequilíbrio do 'Condição mesma do ●CO da
sistemático' tcntral da .teoria do “déficit c (jiie
escoh, posição singular da -■>.c,ola keync.s.ana surge à prinreira vista paradoxal: toma forma, na JnnU terra pa.s conhecido como o beVo £ . pnne.pios dássiexis e ortodoxo.
Sir Williain Bc\cridgc (3) e, sobre tudo, s<-u discípulo, Kaldor, e.xemplifi* cando a teoria do nu\stro, mostram que Ncrdadeiro desequilíbrio não é o (lese(pnIi!>rio orvamentário; o desequilíbrio ^ fumlanumtal de unia economia ó o deM mj)reg<j, dc (pic sofre a economia. Consi<ierani que o fato de (pie
o a Inglaterra
1orçamento é a equilíbrio econójnitinha, antes da segunda guerra mundial. 1 .2.00,000 desempregados, representava perda anual do 375 milbões de li bras na indústria, do 95 no comércio e nos ser\iços profissionais. 0 total d(.-ssa perda, ch; 500 milhões dc libras, re presenta hoje, após as dcsvaloriziições da lilira c
foi a personalidade de T. M Vo ’
uma tie 30 a alta dos preços
, .um valor do cerca dc ] .500 milhões de libras. É a'p;-ct() do desemprego e não a idéia do d(‘scquilíl)río contábil orçamentário d( \-e constituir f'-
como ynes c que criou a que desuplicação t.oncepção não mai.s
nem na balhista), -
paçoes.
Inglaterra (sob se deu governo tr-inem nos Estados Unidos To I OU O “p^air Dcal”) ^ paiscs que praticam iis suas últimas
^“New Deal
o mas nos planismo levado o consequência
A teoria do déficit seia nas '!● 1 ^^stcniático se b-i
Para operar, portanto, sobre o verda deiro dcficit (não sobro o contábil ou inanceiro) é preciso recorrer aos in'■(ístimcnlos c intensificar, ao mesmo todos os gêneros de despesas (ampliar o consumo geral). A dificul dade reside; no fato de dores de capital nem postos a seguir voluntàriamente essa po lítica. A poupança se torna uma espé cie de barreira; é- a inércia, que interíere na dinâmica econômica. í
..Teo.a Gemr to.na cmT: tTr^dd.T de que a ^upaaça ne.n sempre seguí “par. pas.su o .uvestimento. A não c„u cordanc.a entre a poupança e o investimento, o acúmulo das economias não são investidas, é a causa, Keynes, do maior mal da economia
o tempo, que os possuisompre estão disÉ preci-
que diz-nos ca-
(2) Lawrence R. Klein; ‘The Kevnesian Revolution", Nova York, 1947.

so um certo ponto
que alguém intervenha para forçála u dinamizar essa mecânica; não sòmcnt(; fazê-la sair de r ●. f..
Õ8 ftir.FsYò EroNÓMti
S
.^.iadefi„an.,sp,Mi""1Sr.
'::;r
dc sir William Bevcridge teoria do dcficit sistemático concerta; e, finalmente, a ’ completa desta 1, t ●*4
0 que o centro das preocu-
s.
(3) Sir William Beveridge: "Full Employment in a íree^Society". Londres, 19^^
dar-lhe mais potencial, qiie reservas morto, mas dcvt“ ser tcòricamente igual ás nacionais do trabalho não empregado, e proporcional às deficién- in\crsamentc cias do consumo nacional.
Estado solucionar èste pro- Cabe ao
bU-ma c, entre os meios para chegar a a preferência converge para os traA solução do equilíISSO, balhos públicos. brio (‘conómico nacional se toma, porroblema de despesas pú- tanto, um p Idicas.
Volta-se ao mas sem se orçamento, aspecto do equilíbrio O que essa teoria, é
com o preocupar entre as receitas e as despesas, é necessário fazer, segundo deixar de lado a regra de equilíbrio alimentar ate a satudo trabalho nacional. O
orçamentário, para ração a i-cserva ' Estado deve tiansformar-sc em patrao c empresário o satisfazer a procura de tra balho, até uma reserva de 3%, julgada noniial. Desta maneira, a primeira construir as finanças publicas
condição para
será realizada.
Se se aceita a teoria keynesiana ate esa coisa mais normal a realizar, primeira etapa, secomò cobrir as despesas satisfazer a reserva do
SC ponto, iapós ultrapassar ria parguntarnecessárias para
ssa trabalho nacional.
e tentando os meios necesaumento das com um au-
Os ortodoxos responderíam: encontrar conjuntainente ●para equilibrar despesas extraordinárias, mento da pressão fiscal, correspondente e sincronizada com as despesas. A teofull cmployment” tería encon trado, dessa maneira, não só a coluna orçamentária das despesas, por interméo trabalho

o sunos, ria do dio da qual deve satisfazer suplementar, como também a contrapar tida orçamentária das receitas, discípulos de Keynes caminho errado. Em lugar raciocínio fiscal
É aqui que os seguem um de prosseguir cm seu
aceitam nas na metade do novo Ihiclo, porque não cogitam c redistribuir a pressão :
delibcradiimcntc o . Preferem ale o fim, desequilíbrio do orçamento, apelar ao empréstimo c continuar a e “deficits sistemáticos”; isto é, ficam ape ^ caminho escode- aumentar fiscal atual. '
nao com uni im-
O verdadeiro dilema fiscal, que foi solucionado jxílos keynesianos, ® seguinte: transferir o encargo fiscal da renda nacional também para o capita , privado, a fim de obter os recursos su- . plemcntares e realizar b “full eniployment”, ou permanecer com “deficits sis- ' temáticos”; adiar o momento da solução fiscal, utilizando o crédito, ou solucionai , imediatamente o problema pôsto extraordinário e correspondente so bre o capital.
Porque a e.xperiència e a política keynesiana não conseguiram levar o capital privado a participar de bom grado da \ mecânica de crédito, foi-sc obrigado a empréstimos compulsórios. ^ O dilema traiisfomiou-se, portanto, em: empréstimo compulsório ou impôsto j, sobre o capital.
recorrer aos ●
Mas, como a mobilização do dinheiro apresenta uma outra dificuldade, o pro blema fiscal se colocou da maneira se guinte: inflação, empréstimo compulsó- ● rio ou impôsto extraordinário sobre o ^ capital (4).
É bem verdade que ninguém, entre os , partidários da teoria do déficit sistema- .● tico, pensa em dar à referida, construção ■ orçamentária um título permanente, futuro equilíbrio orçamentário de%'e conseguido
O ser consequência como uma
inevitá\’el do aumento da produção, em ; \irtude do “full employmeiit”. Esta pro- f messa de equilíbrio orçamentário deo ein-
(4) Ver o estudo “A inflação,
préstimo
-V 5í) Econômico Dk;iísto
kj
compulsório ê o ordinário sôbre o capital” m Digesto Econômico”, ano VIII. n.° 89. j
'
rujonsira a (ra<jiicv..i d.i U'oría do dcfi<il sistenuUicu, ({uc não pode nem fixar o momento do retorno a<) equilíbrio, neni renunciar, pura e simplesmente, à con siderarão de qm; a condição do equilíbrif) é indispensável ao quadro social da « conomia capitalista.

(Irliiiiii. Mas, seri.i desprovido de coh* teúdo social considerar essa dinàmlc» sem S(Mi (puidro n.itural, que é o ano coiiitim. Os proeessos econômicos constiLiiein inanifeslaç(’)es da humanidade, (juti lhes imprime as condições dc smi exis tência efêmera.
Mesmo que mais-valias fiscais' ■|. após a aplicação de certo número dc çamcntos deficitários, (piem poderá determinar o montante do aumento autojr luático desses futuros impostos ? E mais: f ] Cpial será a relação entre
las consii m res empréstiK mo.s, como amortizar tal P dívida púl)lica ?
surjam orossas mais-va-
fiscais pro\'áveis e os créditos já o política de pleno emprego h neste caso, quando as maisvalias tiscaís forem inferioà soma dos
.Assim como nosso julgamento sobre as etapas da juventude, da maturidade gu da \'clhiee do ser humano toma conw medida o eslalão do tempo, o dinamismo económieo, (pie não é outra coisa quo iião a expressão da dimensão do tempo nesses processos, não podería fazer abs tração dessa condição.
A solução do problema recaí de .sobre o maneira inevitável mecanismo do im- it, pí)Stü.
A consideração de princípio do equilíbrio t, çamentário anual
o o orsenk; ta uma concepção estática J. das finimças públicas,que ! não é compatível com a natureza movediça da 0 que é preciso r:;^ sub.stituir esse equilíbrio nica fiscal mais dínâmi' r , caso, o equilíbrio-■i
r I ’
so¬ ciedade, po íca, ^ ciclo econômico, está sibiliclade de realizar
S’. a CO o mo-
- 1 administração i .social. A noçao do dinamismo económirepresenta, verdadeiramente, i- vimento contínuo, qüe a obra de J. M. Clark e, sobretudo, seu “The relation ' IjetwecMi staties and dynamics”, tão bem
A consideração (pic Sc expressa nn re gra dc amialidade do orça mento, portanto, de seu equilíbrio, não <qíõe nenhum:i barreira ao funciona mento c à mecânica da fc- ! uoincnologiu econômica e fiscal, mas liies impõe uma modalidade para torná-los í inteligíveis e compatíveis com uma organizitçno c ad ministração social.
A teoria do pleno em prego não perderá nada de .sem valor e de sna própria natureza — puramente di nâmica — se, na aplicação coiTíuitc, (da apresentar também a solu ção fiscal concomitante do problema, (|ue não pode ser substituído por um I^rojcrto futuro e talvez irrealizávol.
Pelo contrário, encontrar esta solução * ii.scal concomitante,, quer dizer dar à po- fl líficu do pleno emprego uma dinâmica P integral e conforme à sua própria nalu- " reza, quo não se limitará a procurar u solução para o problema do desemprêgo atual, com meios futuros (créditos), artificiais e lesivos (a inflação).
ou
A teoria do pleno emprego, indo além da regra de equilíbrio orçamentário e ’
Dtíiisro Kri m
i -í
f.: qu repre
ti
r uma mecàque seria, no orçamentário dc om função di um I pos, , , fórmula. Infelizmento, as experiências não que tal mecânica seja apIicáCel SC renuncia completamcnte idéia de organizar uma
provam SC não qualquer ir. ’
servas s< ter o sem de substância,
da balança orçamentária, que é uma das de nossa economia, como a dimensão do tempo \igas-mestras r.oção ipti' marca nessa dinâmica.
K, já cpic nos encontramos no domínio dos paradoxos, acreditamos que o para doxo mais imprc.ssionantc do aspecto fis cal da teoria do pléno emprego é que o ainda não enconfazer fun- ^ dinamismo keynesiano mecânica própria para
meio do realizar o equilíbrio econômico, por intermédio do equilíbrio orçamen. táriü.
da des-
cièm-iii cio iliéloclo deflacionistu como não bnscanclo os moios nas próprias rclatcnlcs dü capital pri\ado, viu‘ na situação paradoxal de cjuerer obccpulibrio social do capitalismo, subinclc-lo a nin esforço direto e e destruindo o conceito
Xem hicsmo as manipulações \alorização, julgadas, segundo as expevicncias de 1935 nos Estados Unidos, ou segundo acjuclas de 1936-1938, na Fran ça, são consideradas como capazes de -m; restabelecer o equilíbrio econômico, rc- ^ correndo ao princípio do equilíbrio fi-
nanceiro.
● d(> maneira concomitante o .setor sombra
Iron a cíonai dos imaos cjuo permaneceu na , central, que descrevera da preocupação fermidade do capitalismo c lhe deu ●Ibor diagnóstico econômico.
O medicamento do que temos sidade não c nem o crédito impotente e d( musiado egoísta, c uma doença mais grave ainda do que desemprego. Se se é obrigado a apli car, da mesma forma, um désses remémesmo os dois conjuntamente, \crcmos nenhuma escusa paru não mesmo tempo, a uma pres-
a cn o nu necesinfiação, que nem a o dios, ou nao rt‘eorrer, ao
.ião fiscal aumentada, através de um im posto extraordinário sôbrc o capital pri vado, correspondente para fiscal da teoria do pleno emprôgo.
Eis, por exemplo, a conclusão do pro- TS] fci-sor II. Laufenburger (5): “A deflação malogrou em tôda parte; a diminuição das despesas, longe de comprimir o ■»[ preço de custo, desencorajou as iniciativas, entraxou as compras, repeliu os ca- .5 pitais. A agravação dos impostos para y reduzir o déficit teve as mesmas consc- H
(pièncias.” U
Obserxando a política fiscal e finaneeira internacional do capitalismo, pode ^ eonstatur-sc uma fuga quase geral ao w princípio do equilíbrio orçamentário, S abandonado ao mesmo tempo pelos dou- a trinadoros e jx.*los tcoricistas. ^
A prática orçamentária contemporânea dc nos.sa sociedade (com exceção rí das economias pertencentes á URSS e aos países-satelites) encaminhou-se no sentido de solucionar o equilíbrio econó- X mico com o abandono do princípio do % eipiilíbrio orçamentário.

O problema de saber a quem financeiro ou ao econófoi considerado como uma alter-
nativa entre a política de deflação . aplicação mático.
medida que nos parece a mais cobrir a deficiência dar a prioridade, ao mico, nómico, exequível com a mecânica da í destruição de seu próprio equilíbrio. w
c a da teoria do déficit siste-
autores, considerando a ex- Diyersos pcriência deflacionista de Bruening, le vada a efeito em 1931, na Alemanha, como também a de Lavai, executada em J 935, na França, concluem pela inefi-
Esta dinâmica orçamentária se transforma, portanto, o financeiro no sistema que reflete d como uma função do eco- (í
Quais são os verdadeiros aspectos das ^ aplicações da teoria do déficit siste- ^ mático ? i
%
● i»' .rr ● Dicksto Econômico
(1 ■■i
(5) H. Laufenburger: “Traité d'Ecoiiomie et de Legislatlon Financlères, Budget ot Tresor". Sirey. 1948, pág. 208. i
I
. ea c dircçã
Uma literatura já sufideiitenientc riespeeializadas publicações social, que limita alguns ílc seus .itríbit^ tos; esta (noliivão <la noção de proprie^ <)acl<' priwula foi validada pelas eonsli-j tuições ou leis ordinárias do nuindo pitalista ('c-oino, {>or exemplo, a inslitui-
(
ão, ofereccm-nos um material do trinário e teórico cpic indica não r ■ nas a tendência geral, como tajubém resultados obtidos. Podem citar-se F. Bavidh\un (0)i C»ayer (7), M. (H), e os discípulos diretos de Key isto é, Balog, liurcliardl, Kaleeki, M; delba\ini, Scbuinacbcr,
^ As linlias gerais desta i>olítica do dé ficit sistemático, nos períodos de de '● são. poderíam ser resumidas ; tes categorias de medidas fiscais :
e
nesta uapeos Masoin nc-s mWorswiek
1) Aumento das dcs^x-sas pfiblicas ●
2) Apèlo ao crédito ;
* ri'uda.
3) Diminuição da pressão fiscal sò!>r.a renda e sõbre as trj
i categorias, para ampliar a a consumir ;
presnas segiiinmsmissões de tòd
4) Hetõrno ao equilíbrio rio atra^ós <lc lanla ação da recuperação da mais-val.a l.scal rç-udas, durant,. O futuro p<Tií)do d<nómica. \
A poupança sua base social sob só poderá
aparece nas apli- nao
Os di.scipidíts fiscais do grande mos tre s«-guem seu raciocínio com referência primeiro mal de (jm; sofre o capita lismo, c atacam coni entusiasmo o pro blema do de.s<Mnprêgo. de maneira qm» o segundo mal d(‘ nossa sociedade (a in justa distribuição das fortunas), fica qua-se esquecido,
ao
o > . - r
Embora a "Teoria Geral’’ enuncie êsses dois problemas, na ordem do desem prego c injusta distribuição das , fortu nas, u xcaxladeira biíüarquia keynesiana só podi‘ria ser o inverso (causa e efeito).
a seja gasta. É-sc tentado a acentuar .. ● paralelismo cia evolução da noção dc poupança, elemento criador do canifd com a teoria da propriedade privadV Hoje con.stituirá'um absurdo consideAxr a propriedade privada sem sua função
en
(6) F. Baudhuin; “Théories val.r
«íf i"S-
(9) "The Economies of Full Emplov. menf Oxford, 1944.
(11) A. Loria; “La Réliabilitation du déficit financier", 1939.

“Teoria Geral” apresenta em pri meiro lugar o efeito, e depois vai à mais importante da.s causas, que cria o de.sempiêgo. Os fiscalistas partidários du teoria do déficit sistemático concentram seus esforços no sentido de fazer funcio nar i\ nova mecânica orçamentária, com objetivo dc solucionar o problema do desemprego e atacam os sintomas, atingir uma causa fundamental da fermidade de nosso sistema econômico.
A o sem ene í
Os quatro |xmtos mencionados aciiua^ quo resumem a mecânica fiscal do di namismo orçamentário, e os exemplos
f' ' 02 nu.K.STO KCONÓMti
çao mmiTsal da <“xpropnavao, as prorro gações df)S contratos íI«- locação imobi liária, etc.) A mesma tendência, quo já atingiu uma das modalidude.s do ca pital (expresso sob a forma dc bens cor porais) manil«-sla-se agora nas expressões monetárias <lo capital. Êsse fenômeno geral, a [uojíensão a dar fimçáo social ;u» capital (em .stia forma de poupança), que eonstiliii uma das características d.» teoria ke\’uesiana, cações financeiras da mesma “Teoria Geqiie age priucipalmente .sóbre a ► r P*'
Hlackwell (fí), Wjiliam Beveridge (10) A. Loria (II) e outros.
is as a propensão e orçamentáprosperidade eco-
reencontrar condição de (pie
(8) M. Masoin, "Théorie économique des finances publiques’, Bruxelas loaq
(10) ■ W. Beveridge; "Full Employment in a Free Society". Londres, 1944.
sctor-renclii, üiidc sua mecanií-'u mais diis cli\’ersas aplicações da teoria do de iic-it sistemático, não apresentam o irumento fiscal capaz de solucionar o distri-
insorgànico da injustiça na defeito
sao suco.ssoes Intição tias obtidos
çao
nas 110 tentou realiziir uma distribuição
justa das rendas, -recorrendo também mais intensamente ao impôsto progresdas fortunas, a não ser no setor onde os resultados
“mortis causa’'. A procrastinada solução do problema da injusta
si\o. dife-
A conclusão de Kcynes (12) rente e mais radical:

le na dinâmica eiso e.Npnimr keyncsiana, repre.sentain política orçamentária.
●partição das fortunas para as gerações futura.s e a recusa em resolver, cm bene ficio dos contemporâneos, o que era prefinanc^ira
debilidadc bá- a síca desta foi isolaima
Na nova prática, o impôstodo no sclor-renda, onde se tornou o ins trumento considerado capaz de realizar distribuição mais equitativa das nclássicos tinham criti-
cado também e às vezes mesmo com mais %’igor, o fato de que a maioria das riquezas sc achem tão sòmcnte nas maos de uma minoria insignificante do ponto de vista do número, mas tôda-poderosa cconòmicamente -
gumentação leva à conclusão de que, nas condições atuais, o aumento da riqueza, longe de depender da abstenção dos COS, como se pensa geralmente, é antes prejudicado por ela. Uma das princi pais justificativas sociais para a grande desigualdade das riquezas c, assim, afastada.”
Enquanto que a “Teoria Geral” acen tua também o problema das grandes d(?sigualdades das riquezas, a sua aplicaexclusivamente so¬
Mas, os bve a renda.
era Assim, nossa arU nçao opera quase que
.sao a
A justificativa nómica, das grandes rendas, assim das grandes fortunas, era que a poupan ça era ao mesmo tempo fonte, conse(íuência c motor do processo econômico.
Mas, segundo a “Teoria Geral”, a pou pança não pode ser identificada com o investimento c, perdendo assim seu ca ráter social, recebe, a justo título, o quadc estéril, na medida em que transforma cm novos investimendinãmica fiscal dos'
social c, sobretudo, ecocomo lificativo não sc tos Como reagira a
A política fiscal da progressividade dos impostos sobre as rendas se justifica plcnamcnte, porquê aumenta a propeneonsnmir de nm número cada vez maior de contribuintes, condição deter minante para o investimento. Mas, esta mesma política surge incompleta e nao conforme às idéias básicas keynesianas, em \’irtude de sua timidez em relação ao capital privado, que não ousa atingir com nova mecânica fiscal, que deve re presentar a conclusão de seu ponto de vista econômico e de sua própria filoso fia social.
63 f Digesto Ecokómico
112) J. M Keynes: "Théorie Générale de TEmploi, de 1’Interêt et de la Monnaie". Payot. Paris, 1949, pág. 387. di.scípulos de Keynes ? Ela operou ape
A Sociedade Bandeirante das Mina
Afovso AniNos oi; Mt:i.o 1-h.\n<:o
T7 TKMA que ine foi atribuído neste curso de Bandeirologia, em boa ]k>Jh. «rgíinizado pelo governo de São Paulo, deve ser considerado sob dois aspectos: o sociológico c o liislórico.

Trata-se, em suma, de .-Uravés de fatos históricos, o processo r' üe fixaçao, no território mineiro, da bdeira esta patrulba avançada da socie dade brasileira da época colonial.
Na Europa, desde a Idade Rom predomínio de
caracterizar, mana, o uma cultura sóbr
Alciulciulo à -solicilação de Icilores do' Di<lvsto Econômico”, jmhUcanios n c documentado conjcrcncio que o nassn prezado colaborador AfotviO Arinos proferitt. em São Paulo, no Curso de Bandeirolof>ia. promovido ●j)clo (íníigo De partamento Estadual de Informações.
<< outras e í ^correu, sempre, por meio de lutas que avultavam os choques entre po
cm vos, «"xpansão, a cultura povos europeus c afri■ concêntricos dc nio vc-2 ma.or, desde a Itália até Cia, Cartago, Espanha
No seu período" de romana submeteu a Grécanos, em círculos' cada - / passo que, na sua j,, dencia, foi se retraindo empu^df^^nr los chamados bárbaros. mL / j fv acentuar que a expansão no espaço se > fazia, principalmentc, pela kuíJ i
. Na America atlântica, as culturas ' pansionistas nao encontraram em T;● diversas e hostis a princinn] a-coposta à sua marcha dc pcnctr.àçto uS' fc -
''““‘o-
P da civibzaçao no interior de pní.o. . ^ o Brasil, Argentiua ou Estados UnTdos" antes de ser o relato das lutas entre J’ \os mai.s fortes contra COS, é 1 narrativa da
Xão podemo.s, é cc-rto, ao apreciarmo^ o passado brasileiro, subestimar as liiljts~| 1'nfre lirancos c índios, que ensanguenta-' ' r.un o período de desembarque da cin- ,, lização européia no nosso litoral. 0« branco invasor, ao tocar a praia de quel pràticaincnti* não se afastou no primeiro ■ século, com seus petrcchos, sua religiãoJ s( tis métodos de trabalho, seus estilos dt^ vida bastante soltos, mas que guardavam B (●‘●treitas ligações com a cultura dc ori-® gem, teve de sofrer a hostilidade dos ha4 bilantes da nova terra e de reagir contra j| ela. Mas estas guerras entre cristãos c T bárbaros só constituiriam n ponto culmi* nanle do proci-sso civilizador no decor-W rer do século dezesseis e, assim mesmo* não em todo élc-
nosso
exf.j po luais fra- outros u . ; , conquista do terri^ jt tono linenso pelo ousado pioneiro Luta ^ do homem contra o deserto, da qual \ palavra “sertão”, segundo aíguns filóloj, gos, - ficou como lembrança do >, idioma agreste, a qiic iMario de Andrade ■ ^ chamou certa i'ez “língua do Õo”.
No século dezessete, a ci\ilização cujfl ropéía, já representada pelo bandeíraflJj te, mestiço dc cultura quando não ocH sangue, cnvol\c-se, é verdade, em dois ■ gra\'cs c]u)([uc‘s, corpo a corpo, com po-"l \()s hostis, jlofiro-mo à destruição dosl cjuílombos dc negros, principalmentc os ft de Palmares, c ao e.vtermínio das tribos K índias alçadas, que tomou o nome de ■ “Guerra dos Bárbaros”. jH
Mas seria temerário afirmar que estes ■ episódios hajam se aproximado sequerjM
r. I
A.história da feâSo
Hü processo evoluti\'o ela expansão geoà qual devemos a
ouro
lau impt)rtància, da nossa ci\iliz;ição, gráfica bandeirante, criação das condições que tornaram possi\el, após o descobrimento das minas de , a fixação prceoce de uma socieda de civili/aida cm phmo coração da Ame rica do Sul.
Dcclinio (líi Bandeira
(guando .surge o ouro, realiza-se o ve lho sonho (|ue, |X“rsistentemonte, atraíra i brasileiras nautas ousados. as miragens
Américo Vespiieio, c capitães de d. Francisco de Souza. como guerra como
xuram Iraço. Era o tèrmy ela \icla cm pousadas construídas ao jeito dos índios, qiu; tinham tão breve durarão quanto as royas siqx‘rficialmenle semeadas e que, como elas, assim que os homens par tiam, se recobriam de mato, da mesma maneira que as tabus e roças do gentio. As condições de vida,*sendo as n:^smas, impunham destinos parecidos aos bandeirantes e aos selvagens, que èles caçavam. O caçador é sempre tão es quivo, tão instável quanto a sua caça. Sc se permite uma comparação, poderse-ia dizer que o- caçador de índios ti nha uma vida cujo primiti\-ismo equiva lia à dos povos no estágio coletor da caça, de que falam os historiadores da economia.
Assim considerando o assunto, gara maior simplificação, concluímos que o encerramento do ciclo de escraxização do índio e a abertura do ciclo da explo ração do ouro não representaram apenas uma mudança de ati\'idade econômica. Corresponderam, também, a uma trans formação do tipo de organização social, que sobre as ati\’idades econômicas se baseia.
Paulo.
qualquer Quando o ouro aparecia destas paragens, quase sempre para elas SC precipitavam multidões, e esta migraa morte da
em Ção em massa representa bandeira e o início de uma ordem social
estável.
O ouro surgiu numa imensa área, disbruta, guardada por montanhas p(írsa c c rios, por indios e feras, guardada principalmcnte por longitudes invioludas. Surgiu em São Paulo ; a princípio no Sul, na comarca que muito mais tiurdc veio a constituir a província do Paraná, depois ao Norte, na zona que desde cetransformou na nova unidade addas Minas Gerais; surgiu do se ministrativa em Goiás c Mato Grosso, como Minas se parados, na primeira metade do século XVIII, da maternal capitania de São No período das bandeiras mente ditOj a atividade confinava.na busca de pesquisa de jazidas minerais. Tanto o comércio de carne humana, sondagem da terra para a grande era que em breve se iniciaria eram, contudo, atividades a
Era o fim do grupo móvel, ligeiro, leve de mamelucos descobridores, homens que podiam levar às costas os instrumen tos elementares de sua elementar civiliEra o encerramento da fase da avançada vadeando torrentes, e se esgueirando en-

zaçao. patrulha galgando escarpas tre selvas bravias para frente. sempre frente; mal sediando, no forte das não deipara águas, em acampamentos que
pròpriaeconomica ou se escravos, ou na quanto a que faltava caráter estável
e, com êle, a base inseparável do esta belecimento de xima sociedade firmada mais altos padrões de \-ida, ou, o que será talvez mais exato, para o estabele cimento de uma verdadeira sociedade.
em se en-
Com efeito, parece pelo menos discu tível a tese da atribuição, à bandeira, do caráter de uma sociedade em marclia.
Na minha opinião, o bandeirante estava integrado jia. sociedade quando
65 Du:kst() Econômico
j. contrava vivendo na sua \âla ou na sua ^ propriedade rural, era zona civilizada. i Sòmentc nestes pontos ôle sc incluía no complexo cultural e político a que cha\-ida social. Desde que, porém, i se afastava da família, das autoridades * legais c eclesiásjicas c penetrava na selva, íis vèzes durante muitos
i mamos anos, pa rece mais acertado dizer-se que aban donava a sociedade e não que a trans) portava consigo. Do convívio social b gado na última poxoação ou no último i, pôrto fluvial, muito pouco consor\'í i,' bandeirante. Padrões éticos, religiosos c ' políticos ficavam para trás. - quistas .sociais, êle principalmentc leva is va as de ordem técnica, ou, mai.s espe^ cialmente as annas e os instrumentos que'*lhe dariam formidável
irU’a o Das cetnsuperiorida-
fjuf a sociedade organiz-ida se senia.^H fim dc ampliar o c-ampo de seu poten-” ciai econômico, a princípio no lurebanhamento <le escravos, mais tarde na pesquisa sistemática das ignotas jazidas <le pedras (? melais preciosos. Constítuia, como ficou dito liá pouco, a patniilia a\anv'*da de uma sociedade que se cüiiser\'ava à dislaiu ia.
si*quencia, dc \ista, a
.
I- is, que¬ de no encontro com os selvícol; desejava Nem escraMzar ou exterminar
^ mesmo o caráter de sociedade
Desde que surg«* o ouro c o liomem Sc fixa, \aí jx-rdendo a bandeira a sua funvão, na medida ein que a vida sodal SC estabelece progressivamente. Por conconsiderada sob èste ponto expressão “sociedade bandèiraiite” encerra uma antinomia, lun qua se paradoxo, pois enquanto existe b;m« deira não há sociedade c quando esta se constitui aquela desaparece.^
Sociedade Bandeirante
ç. nômade sc pode, com rigor histórico e I sociologico, atribuir aos heróicos bandos que eram'as bandeiras, r não exclui cm nada a presença da f dem social. Nômades são os povos ou J as sociedades condenados a um froquen h te deslocamento de “habitat” pela ne í,, cessidade de subsistência. Desta forma conceito exato de nomadismo está vim culado ao problema da dificuldade suprimento de alimentação, da escassa capacidade dc*

O nomadiisino oro no seja através
IA 1 „ produção de generos da regiao politicamente domina da por determinado povo. seja pelo prò, , cesso inadequado de trabaUio que êste k- mesmo po\-o emprega na obtenção de alimentos.
H '
f
-Ora, a bandeira típica não era uma , sociedade nômade, um povo completo com mulheres, crianças e todas as histit tuições em pleno funcionamento, que mudasse periodicamente de “habitat”, ●' premido pela escassez de comida. A bandeira era apenas um instrumento de
Mas, se examinarmos o tema de ou tro ângulo de observação, veremos que o seu enunciado quis por certo traduzir uma época transitória, na qual a socie dade (‘in formação nasce dos elementos do bandeirismo que morre. Sociedade bandeirante é algo diferente dc sociedade-bandeiru. É a época confusa cni cpie à Ijanclcira sucede a sociedade, no\a organização que guarda alguns tra ços da outra. Sociedude-bandeira não me parece que tenha existido, mas a so ciedade bandeirante pode e deve ser bistòricamente considerada.
A sociedade bandeirante existiu, Brasil, naquele período e naquela re gião em que a organização social, trans portada do litoral para o sertão do ouro começou a disciplinar o tumulto c anarquia reinantes, nos primeiros desco bertos, pola colossal imigração de aven tureiros e pela ausência de poderes cons tituídos .
A sociedade bandeirante é o início da
Dicesio Kcol V 66
■*x\
no i\
aplicação e clu adaptação das institui ções .sociais c dos padrões culturais vig(-ntcs na zona civilizikda, ao deserto rusúbito povoado pela estonteante atração do ouro
Desde que coloquemos o problema ne.sta base, teremos de concluir que hou ve, no Brasil, mais dc uma sociedade bandeirante, à medida que se esten diam os descobertos. Aliás, com as na turais modificações, o processo se repe liu cm outros países. O ouro da Cali fórnia não dei.vou do dar lugar á cria ção de uma sociedade de pioneiros, vul garizada pelo cinema, que pode ser to mada como réplica das nossas bem mais antiga.s sociedades' bandeirantes.
clerènios considerar como sendo o da so ciedade bandeirante, em Nviiias, o perío do compreendido entre o ano de 1696, que, com os descobertos do Ribeirão do Canno, marca o início da grande marclia de povoadores para as Gerais, e o ano de 1720, de 2 de Dezembro, foi desmembrada a capitania de Minas da de São Paulo, principiando a sua vida autônoma.
assim, considerar, com advento sucessivo
É-nos lícito, tòda a procedência, o da sociedade bandeirante em Minas, em Goiás e em Mato Grosso, sendo que esta aula, dado o seu título, deve confinarse ao processo hi.stórico ocorrido nas Mi nas Gerais.
Desde logo se nos impõe o dever de ,fL\ar cronologicamente o nosso quadro, de balizar por épocas, tanto quanto pos sível precisas, o terreno que vamos per correr.
Qual a época do florescimento, em Minas, do que se pode chamar a socie dade bandeirante ?
A resposta a esta questão, dada a ine vitável dose de arbítrio que encerra, es tará sempre sujeita a contraditas, talvez fundadas. Em História, a data, ainda quando corresponde a certo conteúdo concreto, é sempre mais ou menos sim bólica. A 7 de Setembro proclamou-se a Independência, a 15 de Novembro a República. Mas estes dias históricos são meios de simbolizar — e, pois, de simplificar — processos na verdade mui to mais complicados e duradoiuros. Não é só Roma que não se fêz num dia.
Para os fins que temos em vista, po-
qual, por ordem régia no em o que foi dito, uma sociedade um
Não é apenas por esta circunstância que colocamos naquele ano o marco fi nal da sociedade bandeirante mineira, pois o primeiro governador nomeado pa ra a capitania autônoma de Minas, d. Lourenço de Almeida, só em meados dc 1721 toma posse, sucedendo ao condo de Assumar, que até então dirigiu as duas capitimias reunidas. Escolhemos o ano da fundação da capitania de Minas Gerais porque êle coincide com o esmagamento, pelo conde de Assumar, da re volta de Felipe dos Santos, que deve ser encarada como o derradeiro espetáculo, Minas, da desordem política própria da sociedade bandeirante. A Inconfi dência Mineira, quando surgiu mais de meio século depois, era um mo\imento político condicionado a fatôres sociais e culturais completamente diversos.
Concluímos, de tudo que existiu em Minas bandeirante e que ela durou cerca de quarto de século - de 1696 a 1720.

A Bandeira de Femõo Dios
A fase de futura XVI exploração geográfica da capitania, que se abre no século com as entradas de Braz Cubas, Brusa de Espinosa, Sebastião Tourinho e outros mais, continua, pelo Sul, pelo Norte e pelo Leste, desde o início do sé culo XVII, com os grandes feitos de Nicolau Barreto, Lourenço Castanho e ou tros bandeirantes insignes.
Dickstí) Econômico 67
ploradora podc-sc consi derar encerrada com a bandeira do glo rioso Femão Dias Pais, verdadeiro pa triarca da sociedade mineira.
Esta fa.se cx iim esh(K,'« de go\èmo inlenio e leisl (pie foram draconianamente cumpridas.'
com irro. a Agostinho Barbalbo Bezerra L
, filho de um herói da Guerra Ilohmdes de superintender os trabalhos dc de brimento das esmeraldas, gia recolhid;
sa. setjEm carta répor Pedro Taques

, o sobe-» rano solicita dirctamente o auxílio de Pernao Dias em favor de Agostinh balho. Desde c) Barentao deve ter-se fixado
Por liicl») isso, pelo ol)jeti\o delemiinado e maduramente estudado, |>elo a[xii{i oficial <‘ a proteção aberta da Co roa, pela aiitoridacb- oficialmente conicrida. pela organiz:ição relativamente complexa da empreitada — vemos que a bandeira de l'ernão Dias representa mna transição entre o priiniti\o gnipo iiu')\el de piom-iros e a in.slitnição soeial. Sem dú\ida, esta transição não se op€^ron de cliofre. \bnlia se manife.stando à ]}ro[H)rção qni* awinçava o bandcirismo, à proj>orção (jue o moximenlo bandei rante ia se tomando mais consciente de
si mesmo e mais rc-conhecido pelo po der i\‘inol. iVovas deste falo poderão ser oblicl as nas importantes obras históricas , Governador das o sonho das pedras verdes que veio a morrer.
mnuy, Eilis, Carvalho Franco ou Alcântara .Machado. Mas parece certo ● (lue a liancleira dc Fernão Dia.s marca o ponto culminaiiti' dessa lenta evolução. For ela e pc‘los .seus resultados, passa mos, em Minas, da fase do bandeirisino para a da sociedade bandeirante. Com efeito, os resultados da bandeira de Fernão Dia.s interessam enormemente à civilização niimnra, apesar do fracasso de seu objetivo, que era a busca das es meraldas. Ç í i': t.
O certo é que, quando Fernão Dias larga a terra paulista com a sua bandei ra, nova era se inicia para o handeirismo. Era o apogeu do inoximento c co mo sempre acontece, também o começo do seu declmio. Aos poucos, a bandeira tmha deixado dc ser aquela iniciativa prccana e pru ada do pioneiros audazes cortando sertões sem rumo, como a prino.p.o fora, para atingir à .ituação do empreondnnonto semi-oficial, org™is,no m.I.tar e político definido, oonio so dàexpedição de Fernão Dias
na imaginação do futu Esmeraldi ro IS| de va com a tan-
Longa e niinueiosamente se prepanira a viagem. Sobre ela manteve o sertanista correspondeneia eom o próprio sobe rano, em Lisboa. Ao partir, o eapilão de tropa levava a autoridade de Gover nador da.s Esmeraldas, expres.samente conferida por patente do Governador Geral da Colônia. E o tesouro real, to quanto o municipal assistiram-no nos preparativos.
A e.vpedição possuía, por outro lado,
Em primeiro lugar,
a
administração
da zona passa a tomar caráter mais or ganizado e estável, através de atos co mo a nomeação do d. Rodrigo de Cas telo Branco e outros subsequentes.
Depois disto surgem os primeiros tes temunhos de civilização material, indi cativos da fixação dc uma sociedade eru região que antes não passava de deser tos, boqueirões e serranias. í
Três núcleos fixos fundou a bandeira dc Fernão Dias, primeiros lares venerá veis da terra mineira.
Uiaiisio lícoNÓMio fiS
í.
i
Svia viagem leva definido o fito de descobrir certas ja/Jdas cm território mi neiro. Dez anos antes de partir para .Mi nas, já Fernão Dias se preocupava as fabulosas ricpiezas do .sertão. Segun do conta o minucioso inon.sen!u)r Piz;no ano de 1664, o rei de Portugal in cumbia
de T-.
Os primeiros núcleos
Segundo o parc‘cer de Salomão Vasconcelo.s, <pic* .se nos afigura, de entre as ^●árias tentati\‘as de identificação desses luicleos, a preferível, o mais antigo foi o arraial dc- S. Pedro do Paraopeba, vindo cm seguida, cronològicamente. Sumidou ro o Iliituruna.
chamar-sc, Santana do em São Pedro passou meados do século XVIII, Moje ó também conhecido verifi- Paraopc*ba.
por Santana da Vargem, como se ca no “Dicionário Toponímico” organi-. zado pelo Departamento Estatístico de Minas Gerais, e é distrito do município de Belo-Vale, próximo a Belo Horizonte. No luimildc recolliimento em que vege tou, com as suas quinze casas meio ar-
ponimico”, anteriormente citado, não mais recolhe o nome do Sumidouro. Em compensação, volta a consignar o de “Fidalgo”, evocativo da tragédia em que perdeu a vida d. Rodrigo, às mães de Borba Gato. Caiu, assim, em desuso u denominação recente de Lapinha.
Toda esta região, celebrizada pelo ilustre cientista Lund, que nela \iveu, apresenta uma formação geológica pecu liar, com muitas grutas e lapas, onde, por vezes, os cursos dágua caprichosanicnte se insinuam. Daí os nomes de
Lapinha e Smnidouro.
capclinha ^xibre, provibarroco. minadas, <la ainda
Santana da Vargem foi teatro de iniporde todo es-
a .sua dc um velho altar tante.s acontecimentos, nao Ali sediou, com sua enorme brilhante fidalgo castelliano qnccidos. c-omitiva, o
d. Rodrigo dc Castelo Branco e ali Gar cia Rodrigues Pais Um entregou, como representante da Coroa, o saco precioso de pedras verdes por cuja suspirada e ilusória conquista o velho pai tinha mor rido no deserto, tendo a maleita como última e exigente companheira.
Podemos conjecturar, apoiados nos elementos imprecisos de que dispomos, que o arraial antigo do Sumidoro, a 7 kms. do Fidalgo, era o lugar onde Fesnão Dias residiu durante anos, e que o atual distrito do Fidalgo se formou no vizinho ponto escolhido por d. Rodrigo para sua residência e no qual veio a ser morto na rixa com Borba Gato. O Fi dalgo, infonna o “Dicionário Toponími co”, é hoje* um povoado considerável, pois conta 329 casas.
No Sumidouro é que se verificaram os dois episódios famosos da condena ção à morte, pelo próprio pai, de José, fihio bastardo de Femão Dias, e do as sassínio do fidalgo d. Rodrigo, por Bor ba Gato, drama que se perpetuou no nome do arraial.
Êstes dois episódios e mais a morte do velho Femão, abandonado as suas esmeraldas falsas, o arrastamento -j corpo pelas águas do rio, a busca do cadáver
no ermo com do por Garcia Rodrigues
a sua ca tí como po- 9igna o nome
voado distante 7 quilômetros do distrito de Lapinha, que se chamara antes dis trito do Fidalgo. Já o “Dicionário To-
o fi lho dedicado e fiel, tudo isto, naquele ambiente misterioso e bárbaro dp Brasil primevo, dá ao conjunto da página his tórica um colorido severo e imenso de tragédia antiga.
O terceiro povoado, surgido no rastro de Femão Dias, foi Ibituruna, tamb<kn chamado S. Gonçalo do Ibituruna, pró-

p 69 Dicusto Econômico
Sumidouro foi o segundo arraial fun dado por Femão Dias, local também próximo à atual Belo Horizonte, na li nha divisória entre os municípios de Pe dro Leopoldo e Lagoa Santa. Infonna Salomão Vasconcelos que o antigo ar raial .se compõe dc dois povoados, São João e N. S. do Monserrate, ambos com pelinha rústica, do tempo das bandeiras. O “Dicionário Corográfico de Minas Gerais”, de autoria de Pelicano Frade e publicado em 1917, ainda con"Sumidouro" ,
(■
xiino à atual São João dcl Rei. Foi esta po\oa(,ão fundada na retaguarda da bandeira, por ordem de Bartolomeu da Cunha Gago, cumprindo instnu,ões de Femão, dadas no Sumidouro. Ibituruna se destinava a ser um ponto de escala e de produção de mantimentos entre Ti baté e as minas, no curso do chamado Caminho Velho, que ligava o sertão mi neiro a São Paulo, único trilhado antes -● que Garcia Rodrigues abrisse o Caminho Novo, que ligou Minas Gerais ao Rio i - de Janeiro.
Ul-
am, nas várias comarcas, às vèzcs i grandes distâncias uns dos outros, nos anos f{ue se seguiram ao encontro do oiirt). Muitos cléstrs pn\'oados, como Antônio Pereira e i^idre Faria, no atual município dc Ouro Preto; Caniargos c Bento Rodrigues, no cie M;iriana; Gama íio de Prados: Raposos, no de Nova Li ma. ou as cidades de Mateus Leme c Antônio Dias guardam nos nomes a lem brança dos velhos fuiuladores paulistas, patriarcas da sociedade bandeirante nas Minas.
t A noticia da fundapío de Ibituruna ú ^ fornecd^a por um certificado da Câmara no “no dc IfiSl o nu-
‘’o Arquivo MiL-
nci; “'‘‘o 'ino vem assinado
m- J°‘õ“ Cunlia Gago ir¬ mão, tidvez, cm todo caso parente nró ximo de Bartolomeu da Cunha Gago o fundador, crcunslância que a„mc4a valor rnforrnaHvo do documento. Êste mesmo Joao da Cunha Gago aparteo depots, c;omo um dos primeiros povoTcío res de Sao Joao dei Rei ^ °
os ra de }uas<
Duros, ito duros foram os prinieitempos clèsses arraiais. A pobrc2,i regra, no im io de tanto ouro, e a miséria não constituía exceção.
dc\'id(j aos jireços absurdos (jue atin giam, nas .Minas, (puu.s(|m’r bens do con sumo. inclusive os aliinenlo.s.
O paulista, (pie se atirava ao sertão, o tinlia dc levar lev
Kl
so-
enconem essocial no bárbaro
A peno.sa aventura do Femão Dias embora tenha, repetimos, servido de fê’ ● cho ao bandeirismo e dc pórtico àCicdade bandetranto, não foi seguida de resultados .med,atos. Entre cia c a faÍ do verdade.ro descobrimento do metal medeiam txes lustros. Depois de trado o ouro na zona de Marian-." 1796, e na do Ouro Préto. em 1798 é que irrompe o grande movimento de mi graçao para o interior e a decorrente tabilizaçao da vida sertão.
Tão volumosa foi a onda migratória de aventureiros que logo se apresentou alarmante, o problema da subsistência.’
es a alma e o eorpo. era
Lsmaga\’a dentro de si as enioçoes, tx)ino Femão Dias, que partiu com a mu lher enférma, dizendo que a deixaria, ainda quando ela se encontra.sse em ar tigo de morte. Esta durez4i moral imposta pela necessidade de romper ({uaisquer laços, (piaiscpier compromissos eon-^ a.s doçuras civilizadas que ficavam na jionta da última vila. Ao lado desta. inipunlia-s<.‘ também uma grande diirez.\ física, que le\'a\ai o bandeirante a tra tar o corpo com franciscano desprendi mento.
as Toscos petrechos de

Dici-S'ro LconóK^^B 'j 70
l
' r-
n
“
d r e (
t í
Levava consigo sòmente a roupa sólida c rude, própria para os espinhos, ● flechas e a.s intempéries, o grosseiro cal çado de.stinado às caminhadas sem e alguma escas.sa coberta para as noites frias do sertão. r. V
A solução natural era a dispersão dos povoadores e, com ela, seguiu-se a dis seminação dos descobertos e dos dos. , Dezenas são os que então se funpovoa-
mesa, pratos de estanho que também serviam para os ensaios à beira dágua com a areia aurífera. Às vezes, pães de farinha de mandioca, duros como pt'dra, que podiam aturar anos, alimento quo.
sc reuniam numa casa
Capistnino tliz, foni nizüo, ser o único <íni (ju(' o povo brasileiro tem confiança. O resto, o mais jx.\sado c mais importan te, (.Tani instrumentos para cavar a ter ra oit quebrar pedras na procura do me.tal, c armas, armas brancas ou de fogo, estas com suas munições, porque a selva ●era traiçoeira e os índios também. Quando sc detinliam os desbravado res, os primeiros arraiais eram humíliinos, com moradas pouco melhores que refúgios dos bichos do mato. O chefe Bandeirante Nicolau Barreto se achava num rancho no sertão de Paracatu, in forma um inventário dc 1603. E, pela narrativa dc Pedro Taques sôbre a cons piração contra Femão Dias, no Sumi douro, sabemos que a índia delatora ha bitava uma cabana e que José Pais e os seus cúmplices parede dc labique esburacada, do que se valeu a mulher para ouvir, de fora,
Formação das instituições sociais; A Igreja
os nuJá 'vimos também ouro, o tremendo e a escassez que
se lhe seguiu multiplicaram aqueles po voados por várias zonas da futura pitania. ca-
Tentemos, agora, um golpe de vista geral que acompanhe os passos iniciais das instituições sociais nascentes.
A Igreja foi das primeiras, „ primeira a se organizar mente.
senão a conveniénle-
A capela rústica, constmída de pau ^ e barro e coberta de capim, era o primeiro edifício público a surgir na confuesta vida dos precursores continuou por são dos descobertos. Erigia-se em qualalgum tempo, depois de descoberto o quer ponto, òs vezes no alto dos outeiouro. ros,
o que Não SC
eles cochichavam lá dentro, podiam esperar requintes de luxo e conforto em .semelliante vida. E
, ou então nioUiando no fundo dos grotões, quase se córregos e ribeiros de nos cujos leitos e tabueiros marginais, cha mados gupiaras, era extraído o metal.
Se as esperanças se confirmassem, is to e, se nos arredores daquele curso de a^a 0 ouro se mostrasse abundante, entao o arraial primitivo aumentava de gente, as choupanás surgiam arremedos de nha era

se multiplicavam, ruas e a capeliampliada, consolidada, quando nao reconstruída. Muitas destas primei ras ermidas, algumas provàvelmente ainda dos últimos anos do século XVII, e.xistem, mais ou menos desfiguradas, nos arredores de cidades e vilas minezde hoje, relembrando com sua preras
flanqueada pela cmz de madeira tosca, dominando a paisagem severa Nos primeiros anos do século XVIII, o povoado mineiro .se compunha de um minúsculo largo, tendo ao fundo a ermida coberta de palha, e de uma rua la deada por casinhas, que mais eram choupanas. A primeira fábrica de telhas de que encontramos notícia foi a de Mariana, em 1713. Êste pormenor da cobertura das casas mostra a pobreza forçada da vida a tão grande distância do litoral, pois é sabido quo nas vilas da costa, como Baliia ou S. Vicente, a te-. llia existia desde o século XVI. Também a cal, própria para as construções mais duráveis, que os operários de Tomó de Sousa já tiravam das ostreiras da beiraQiar, era pràticamente inexistente nos primeiros anos, em Minas.
● _1 J Digj:sto Econômico 71 i
● j
1
Já \'imos comd a jornada de Femão Dias Pais, etapa transitória entre o bandeirismo e a sociedade bandeirante, dei xou plantados em solo mineiro cleos de civilização material indispensá veis ao desen\'olvimento posterior das instituições sociais, como, descoberto o afIu.xo de mineradores 1
scn^-51 os «‘nsaios <Uí viíla cspirilual na quela terra brasileira.

As cap<-las cie Santana cio Paraopeba e dcj Sumidouro, do tempo de l‘'ernão Dias; as de N. S. do Rosário, de San tana do Morro e S. Jorge do Mainard, cni Mariana; as de Santana c Padre j‘'aria, em Ouro Preto; as dcf N. S. do () c do Hospício, cm Sabará; as dos G das e da Penha, em Pilangui; a do Ro sário, no Morro do Pilar; a dc; It< nhoaeanga, na zona dc; Sc:rro, estão tre elas. Algumas igrejas grandes, a venerável matriz de Morrinhos, as niatrr/xfs de S. João dei Red e de Concei ção dt) Serro foram
uaripac-ncomo mi a Catedral dc Mariana, igualmente construí
das ou iniciadas narjuclc's primeiros tempos handei rantes. I-
os organizac,('»es fiuc-neia
inantinlia-se ou tm-lliora\'a-s<‘ a cTmktl c- era instalada a parcKjuia. bcNantasiçi então, o pároco bandedrante uma li.stj*, dos \izinhos da freguesia e logo coinç<,a\am i-stes a pagar foros á capela, pa. ra siislc-ntação do culto. Abriain-sc registros eclesiásticos, instituíam-se os sacramentos com .suas formalidades e siirgiain as irinandades, estas importan tíssimas irmaiidad(‘s (juo .são uma dos assocdati\as dc' maior iniia vida brasiledra t'olonial, inclnsí\<- cin assuntos estranhos aos estritamcnlc religiosos.
M-
Cada arraial tinh , a a siui capelinhu e os arraiais bro tavam junto da terra, como cogumelos dc Para o\iro. cinco freguesias, com \igários: <]ue ha\ia a.sseiv tos regulares dc' bati-smos, casamentos c’ c)bitos qoan-
fazermos uma idéia do era isto, basta lembr sòmcntc.- no
(|ue ar que períjiictro da atual cidade de Sabará liávia mais de vinte arraiais.
As bandeiras já vinham acompanhadas, quando não chefiadas, por padres. Fo-
do o mecanismo do gover no civil ainda IropeçavM na dc‘sordcm e na confu. são; V temos notícia de ii. mandaeles cm plena ati\-i. dade antes da criaç<áo d; \-iIas, contcmporãnea.s dcK arraiais bandeirantes. J,.
ram, assim, mos os clérigos que ram nas Minas, pelo ouro mui.s do que pola das almas, e levando vida' e nada edificante. A tal i
nuniorosíssientramuitas
vezes atr este al)uso que houve necessidade de dens terminantes, proibindo dc eclesiásticos na zona do permissão especial. Deixemos, porém, de lado estes elementos transviados, pa ra nos lembrarmos dos que cumpriam deveres de seu ministério.
Fixado o arraial, confinnado
aídos salvação escândalosa orn entrada ouro sem os o ouro,
As irmandades eram organizações as sociativas dc caráter complexo, do fundo rcligio.so. Tinham coisa da coopcrati\a, do clube recreati vo, da associação cultural e artística r do sindicato ou agremiação de classe dos no.ssos dias. O irmão sc cnquadra\.i no seu conjunto como numa espéde de segundo lar, extradoméstico, lar ciril. religioso, profissional, em que ficava (Kirante a \'ida c até depois da morte, po\í
apes;ii qwalquef
DtííKSK) Kí.ONÚM 72
Xo aKííreeer do scd cilo, hc-m antes da c riaeão das \ iias e do funcionamento tísIatcWio das instituiçOe$ civis, já o sistema religuiso funciona\a relativamenle hi-iti. Sahcnms, com ofcdto. (|ue c‘in 1705 o curato d<» Mariana c-ra cli\'iclido l I» i-
em
is
geralmente x>er- ii i“las eeinilérios os teiiciam.

Iam as irmancladcs, dcsccncletile, desde a do Carmo, confra ria clc' gc:nti- rica, branca e fina, até a Iminildc" Rosário dos Pretos, refúgio da cscra\ aria e gente de pouca monta, que ’ continlia ein seu seio c di¬
cm escala social alguma \’ez
es-
reçao homens de prol, movidos por pírito caritati\-o e pelo desígnio de au xiliar, na administração, os pretos anal fabetos.
No tempo dos arraiais multiplicavamse is fc'stas religiosas, promovidas pelas irmandades. Não tinha chegado, é cla■ do lu.xo fabuloso da célebre do Triunfo Eucarístico, que se Maio do 1733. Mas andores
ro, o tempo procissão fez na Vila Hica cm numerosos já
encimados lX)r ])c‘las imagens tal\’e7, entalhadas
'1-em-se notícia de uma linda imagem comprada em Itu, no ano de 1/03.
Vinham os irmãos muito solenes em dos andores, com suas vestes ri tuais, opas cuja côr variava, conforme a confraria. Antes da introdução, em gran de escala, da vela de ctua - fonte de enormes despesas - a iUiminaçao das procissões se fazia habitualmente com certo arbusto de madeira resinosa, a cha mada “canela de ema”, que Samt-Hilai. re ainda viu em uso em princípios século XIX e que pode ser encontrada, nos dias de hoje, à beira de certas estra das de automóvel, em Minas Genus.
luíam se
Os “homens bons”, eleitores das uutoridiicles municipais logo que se constias câmaras, eram recrutados se gundo listas organizadas pelas autorida des eclesiásticas. As eleições locai.s faziam mais ou menos sob as vistas da
Igreja e éste costume continuou a ser observado até o Império. A justiça ecle siástica tinha sua jurisdição muitas zes estendida a atos da \ida particular do cidadão. Em suma, a Igreja comea funcionar regularmente antes do
veçou
seu
Estado e, depois que este surgiu com aparelho, marcharam luna e outro de mãos dadas, no esforço de disciplinar e ordenar tanto quanto possível o tu multo da construção daquela sociedade
nascente. conta\'ain coin recobertos de tecidos caros e trazidas do Remo, ou e pintadas na terra.
Goüdrno e Administração
A legislação das minas, a partir dos descobertos de fins do século XVII, se baseou na tradição do velho direito por tuguês.
voltu do mineiras. lhas irmandacle.s
Muito se podería dizer sòbre estas veBasta, con-
tudo, lembrar que, do espírito de de emulação reinante Iguns dos mais belos
comentre petição elas, templos de Minas.
Por outro lado, a proximidade entre a vida religiosa e a vida política foi semmuito notável.
e nasceram a pre
o
O minucioso desembargador José João Teixeira, escritor de meados do século XVIII, na sua famosa “Instrução para Governo da Capitania de Minas Gerais”, oferece paciente resenha desta confusa legislação composta de regimentos, alva rás, bandos, portarias e cartas-régias, partidas de reis e governadores. Per correndo-se os te.xtos mais marcantes, tem-se uma idéia da administração no período que nos interessa.
O governador do Rio de Janeiro, Ar tur de Sá e Menezes, cuja jurisdição estendia então a São Paulo e Minas do ouro, em portaria de Abril de 1701 fi xou o processo da arrecadação fiscal sôbre a mineração, assunto que primor^alinente interessava o rei. A propriedade do solo, de acordo com o direito reinol, diferente da do sub.solo, sendo esta Livres eram,
se era última direito da Coroa.
73 EcU)NÓMICO 13u:ksto
assim, a pesquisa e a exploração das i zidas minerais, mediante gia, reservando-se à Coroa
concessão rénão só a ex-
f.
jaÍ cipação na exploraç-ão do domínio^ Vitil que era o chamado quinto. ’
'
?●
it..
de\-iain dcnt<‘s. s< r sorteadas entro os pretenexcelo as (pie cabiam dc clireittj aos descobridores da jazida e ã Coroa, Por oMlro lado, èst<‘ regimento facilitapossivel a multiplicação dos va o mais dtíscobertos.
registro exportação do os funcionários percepção do impost
s ouro encarregatais como tesou- c o, superintendentes, reiros.
escrivães e no
‘'L «mstiluidas
^ ‘es de prol, investin^do-os, um bitrariamente, nas funções de f dores da ordem pouc ' rôsses da Coroa, gíões.
o armantonee defensores dos i nas {.emibárbaras mterc-

Estava <!sboçada administração. Quanto ao Ciovêrno, a situação era anárquica.
Alguns indivíduos, como nonnalmttjle acontece nas sociedades tm formação
, pelas (pialidacles inatas de chefia c pelo prestigio ackpiirido graças aos bens de fortuna e a certa tradição local, assumirain uma espécie de liderança dos at-on. tecimentos.
niuitos apresentad ano o o perdão, extra vio das Ver Ao Mestre de Campo ° 2
r ic íe" r
antes, e que sc lhe tinha oferecendo serviços e pedind governador incumbiu de coibir vios, policiar o distrito do r, lhas e remeter
Foram os primeiros chefes, espontãreeonhecidüs, da sociwlade l)andeirante mineira, \igorando sua ação enérgica e pnixima, cm lugar da do go verno legal, distante <í mal aparelhado. Entre tais indivíduos, dois se destacam particularmente como primeiros direto res datpiela \ida social incipiente; nue] de Borba Galo e Manuel Nimès Viana.
s o o va Bueno, entregará t f; tro distrito, chamado do Catan ' % , que dividiu a região, e que í do a poente do rio das Velh- ' a s períntendente do nas, foi escolhido Pinto,
O Borlía \'ínlm da fase preparatória, cnntemporáneo do sogro Fernão Dias. b’ua experiência da terra era grande, sm autoridade . A ação que clcsennão poderiu deixar dc ser ampla c profunda. Vimo-lo incumbido por Ar tur dc Sá de funções scnii-oficiais, do certo
enorme 'olveu senque, antes disto userwço geral das miuesembargador Vnv a quem se conceder im \ ^ régia posterior, muitas vantaren na exploração do ouro. Vai Pinío em ,função até 1705. ® ficou
. -ís. Par o
f Em Abril do 1702. foi oxpedido o ro gjmcnto famoso que serviu de lei funda y. mental da mineração durante tôda a époV ca da sociedade bandèirante. Estabele^ cia as atribuições dos funcionários processo de distribuição das datas, e 0 que
, já tinlia sido nomeado tenenlc-general pelo mesmo governador. Como demonstra uma pa tente que llic passou o governador AnIcmio de Albuquerque, cm 1711, Borba Gato foi guarda-mor dos distritos de Rio das Velhas, Sabará e Caeté, provedor de defuntos e ausentes c chegou a substi tuir o desembargador Vaz Pinto na su perintendência geral das minas. O do cumento referido atesta que êle foi ho mem “de todo acerto c boa reputação, acomodando muitas discórdias que
í‘X ■■»f '*■ ● F OiGKsro Ecoxòmi
, A
ploração d(; datas, mas também, como senhoria do domínio direto, unia partir
A
portaria de 1701 criou os para verificação da e, também, dos da
if
A Borba Cato, desde a
íuamiente
por cnliv estes jx)vos, pondo o ciiiihulo im observância das orM.”. Foi-llie confirmada a jnaior cleiis th‘ ^ ● patente tl(' teneiite-general “para que com tòcla autoridade c respeito possa emútil cin ser\iço tão grande e pjcgar-se ^ dü dito Senhor c esperar dele procedera forma o com o referido zelo”. na mesma
Borba Galo morreu como patriiurca dc família, riquíssimo, dono de numerosa \árias sesmarias dc terras e minas. Se ndo Silva Pontes, faleceu na sua anfazenda do Paraopeha, mas Diogo bga dc Vasconcelos sugere quo tenha morri1717, como juiz cm Sabará, ondo a tradição, está enterrado uma das capelas bandei-
do ein (lc% : no interior de segun ranles.
Manuel Nunes Viana e outro tipo in teressante clu Minas primeva. Era reinol, natural da vila dc Viana, patrício portanto do Caramuru, como já obser\'a ^ - protegido Nuno Marques Perêira, dedicatória aduladora com que lhe difuso livro “O Peregrino da

o seu na oferece o _ r , América”. E a aproximaçao tem lundainento, pois Manuel Nunes Viana foi, na Minas do começo do século XVIII, um precursor da cisaUzação no gênero do que o Caramuru tinha sido na Bahia do início do século XVI.
tas, dc um lado, e rcinóis e nortistas, do outro. Esta tensão se devia ao fato de se julgarem prejudicados os paulistas, na qualidade de descobridores primeiros das Minas, com a formidável imigração dc aventureiros vindos do Reino o de outras capitanias, principalmente Bahia e Pernambuco, os quais lhes faziam con corrência. Na verdade, os paulistas eram mais audazes sertanistas do que eficientes mineradores e, de\ido ao seu ânimo inquieto, instável e boêmio, pouco afeito ao trabalho pertinaz e regular, a competição dc estranhos lhes era noci va T A este propósito, há uma interessan te carta do governador do Brasil, Mar quês de Angeja, dirigida ao governador das Minas, d. Brás Baltasar da Silveira, em 1715, onde se lê: “Segundo ouço, os paulistas são os próprios para descobri dores, c tanto que a algumas pessoas ouserem precisos para êste fim, e os fo rasteiros melhores para trabalhar nas ca tas e lavrarem as terras.”
Èstes forasteiros, sobretudo os reinóis, enriqueciam-se e subiam socialnrente, enquanto os paulistas, que primeiro ti nham po\'oado a terra, decaíam ou esta cionavam.
Manuel Nunes bem moço para o Brasil, fixando-se a princípio trabalhar no comércio.
Viera Bahia, na onde começou a
da invasão de Minas pelos Na ocasião forasteiros, esteve entre os quo mais ce do se embrenharam no sertão e parece que foi ainda no comércio que principiou a fazer fortuna. E.sta, em breve, era con-siderávcl, pois seus bens, quando dos se envolveu. políticos em que
Muitos deles possuíam grande escraN-atura, princípalmente índios, tomados no sertão. Os lusos compravam negros, a dinheiro. Uns e outros armavam seus homens. Os paulistas tratavam os portuguêses com desprêzo e, quando a êles .se dirigiam, davam-lhes o tratamento de “vós”, destinado aos escravos
.
SUCCSSO.S a se
foram avaliado.s em mais dc mil e qui nhentos contos, moeda atual.
Era Manuel Nunes um dos potentados da capitania, quando nela começou agravar a tensão existente entre paulis-
Os portuguêses, por sua vez, sentíamse fortes e confiantes. E os ressentimen tos recíprocos não tardaram explodir. Foi a guerra dos Emboabas. Não insis tirei no relato ponnenorizado deste epí.sódio tantas vezes revirido pelos histo riadores Apenas nos interessa enqua drá-lo dentro do ambiente geral da so ciedade bandeirante, para salientar o seu
7o EcroNÓMico
i
clima cie intensa anarquia c falta dc toridade.
e auas ouro estimulou a tantos a deixarem j terras, e ts suas
f-.r. W ”i^tt-Tcm-se por caminhos tdo ásperos, como são os das Minas que dificultosamente se poderá dar con
“Convidou a fi minas tao abund L
f.;
"
“\’ida do Padre Belchior dc Pon“B('ina\a tanta ahundàn-

vam a este
au- .sita tes” : cia dc ouro a liixúria. . entre j Acompanhamonstro os coiitinuos roíilws, os homicídios, as injiisti(,a.s e finalnicnte tildo acjnilo que co.sttiina haver naquele* lugares onde há falta dc homens \ir-
tuosos.
Foi neste ambiente Immilluário que lula entre paulistas e fo(pie emergiu Manuel Nufigura dominadora. go\'ernador das Minas pelos cios, vindos de centrados
I ■
a conpessoas ; homens e vellios, pobres e plebeus, seculares, de diversos i não tê*m - institutos, muit con
c mulheres, c ricos, nobres ir. rf .. e religiosos os dos no Brasil l E mais adiante ded ma das mi
moços quais nem casa.
vento >1
, em fins de .1708, c.xcrceii èle, cie fato, estas atribuições, a ponto de entestar com o governador le gítimo, (I. 1'ernando Masearenhas, sente prepessoa ao teatro dos aconte c-iu
iiita tausa cie
m , no seu efêmero verno de fato, tratando paulistas,
É cie justiça (pie se diga que o ditador Nunes Viana procedeu losicladc com genec astúcia
gocom doçura que derrotara em Cachoeira
accnpa^Srt
antes homens cie tòd no Brasil a partes ; un.s de cabedaí^e AC. dc cabedu., quantidade dele, nas catas foi se haverem com altivez cie andarem ; tropas de
e-spingardeiros, pronto para executarem lência, nhum dc justiça,- grandes vinganças. Convidou largamcnte
de animo fRíalquer viosem temor e do tomarem nee cstrondo.sas ir ■os o ouro a logar «nperfliiida^ gastar em reparo, negro trom eteiro por mil cruzados
de mau trato por dobrado preç-o, para multiplicar com ela contínuos e ese-m ' dalo.sos pecados. Os vadios. ,
U.Í
® uma mulata ● usaram de traiç-ões lamentáveis, cie
r. 1 A mortes mais que crueis, hcando estes crimes sem cas tigo, porque nas Minas justiça humaná não teve ainda tribunal nem O respeito dê cjue em outras partes goza.
Manuel da Fonseca assim discorre
do CamjDo, c gerindo com acerto gocios públicos. A chegada do
‘trTt grandes rancisco, som ser mo-
os os nenovo godo Rio cie Janeiro, Antônio de Albuquerque, submeteu-se á autoridade a e recollieu-se às suas fazcmdas do São J' lestaclo.
Mas noin por isto deixou dc ocupar e preocupar os governantes. Em 1714, c governador-goral Conde dc Castelo Meliior'escrevia a Antemio de Albuquerque pedindo notícias cie Manuel Nunes. 1719 o poder do antigo ditador era ain da tão grande que o Conde, cie Vimieiro, governador-geral, i" ao Conde de Assumar, Minas, a rc.spoito dôle; tem forças para fazer dcstacamentofi pazes de poderem ir buscar a contenda de um regulo eom muitos
o Em escreve o seguinte governador de Nem a Baliia << ca¬ negros, com
w^70 DtCKSTO Kt:()NÔMlC<
I
Dois escritores jesuítas, a curta dis tância de tempo, pintam o ambiente d maneira muito parecida. Antonil tor do primeiro livro aparecido sobre Minas, intitulado “Cultura e Opulência do Brasil” c impresso em 1711, di/, ò seguinte: “A sede insaciável do i i !
SC verificou a rtisteíros, de . nes como Eleito seus patrí: e con- vários distritos cm Caeté L ò
cimentos e coagido a voltar ao Rio mais nu numos hmnilliado.
de.s quantias extraordinárias sem
comprando por exemplo um b
e
na
muitus achfoutlos social cia terra mineira. Fundou no Cen' Oeste e no Norte as vilas Nova tro muitos mulatos, com om sc*rtõ(‘s incójíuitos c desconhecidos, nem cslc ó o meio de o inodcrar, de o exasperar.” disciplinador e i^>odc se situar na nume rosa coorte dos caudilhos americanos.
senão Manuel Nunes foi um (jne, (pio cm PVancisco daeles civis
O goxemador Antonio de Albuquer1710 sucedeu ao tímido d. Mascarenhas, foi quem come(,()u a afirmar a autoridade dos delega dos régios contra os poderosos mandõc‘S da terra. Pode-se dizer que com è.stc insiguc chefe comera uma nova fase da história mineira.

, no da Rainha (Caeté), S. João dei Rei, PiAléin langui e do Príncipe (Serro), disto, veio ixrra Minas com sua família, pode ter deixado de influir o que nao sòbre a melhoria dos hábitos e costumes. Entre os benefícios de sua ação, Marques de Angeja salienta, em carta a èle próprio dirigida: “Para mim, o maior soiviço de todos foi pôr em fonna dc Go\èrno econômico e distributivo èsses tirando-os do confuso caos cni
Quebrada a soberba de Manuel Nu nes, solenemente. no Ribeirão do Car mo (Mariana), investiu-.se ôlo nas suas altas func.*ões, ein presenva das autoric eclesiásticas convocadas c
Rio cias Mortes.
Dc\ inclas cio Sabará, Caetc, Ouro Preto c Entre os presentes cs-
●Ibo Borlia Gato, que pôde asascimento de uma nova
tava o vc sistir, assim, ao n (la vicia cia terra (pic ajudara a época fundar.
Grande parlo do tempo em cpie ser viram, Albuquerque e os seus dois suce.ssores passaram nas Minas, de onde S. Paulo era go\ emado.
u po\os, cpie estavam, correndo vagamente, sem govèmo e respeito a cabeça que os manda.sse”. Êste honroso elogio, de supe rior a subordinado, mostra a feliz trans formação que se ia operando nas Minas. Não (pier dizer isto, contudo, que ela.s esti\essem totalmentc pacificadas. baixo da no\a e .superficial camada de. ordem, ferviam ainda as forças irrepri míveis do barbarismo. O tempo dcconido çra escasso para consolidar as insti tuições da sociedade c os padrões poli ciados dc \’ida.
A luta pela ordem atravessa todo o gode d. Brás e prossegue no do \’erno Conde de Assumar.
Tratou de 1711, criou, em beirão do Carmo;
Vila Rica o em
logo Albmpiercpie do erigir em \ ilas os arrMais mais importantc.s, com o fito dc dar aos .seus habitantes o gôzo dc melhores instituições sociais. No ano abril, a vila do Ri em julho transformou arraial do Ouro Preto e,
bará
No Serro houvera motins entre bvasileiros e rcinóis, eco da luta dos Emboabus. Em Vila Nova da Rainha cstourani um le\antc por causa da cobrança dos quintos por bateias. Em Sabará, alguns liomens orgulhosos e frades scdiciosos ti nham formado uma espécie de Govèmo mesmo més, promo\cu o arraial da Rio (ias Velhas, a vila do Sano Barra rebelde. Os índios do S. Francisco an davam revoltados e Manuel Nunes Viaua, grande latifundiário da zona, estava Melhorou a burocracia, regulou o fisco ocupado em combatè-los. Em Pitangui a sediçao cie antigos bandeirantes assu me aspectos graves.
c (luando passou o govèmo, em 1713, a Baltazar cia Silveira, retirou-se ande servidor de Minas.
d. Brás como um gr
, no O fidalgo d. Brás seguiu,
Grande dificuldade para os govemacom suces- dores eslava também cm conter os reli-
so, o giosos amotinados, que infestavam a ca pitania . As autoridades civis em geral sc
exemplo de seu antecessor, no sen tido de pacificar e por ordem na vida
77 Digesto Econômico
mostravam dóceis e obedientes, o até as Câmaras eram obrigadas, por Era, scin dúvida. , , , lírandc elemento™ eJe coiisf)lidavao do prestígio do Covèr- ' no esla primeira fòr(.a r<-gòlar <jue vinha para as Minas, porque a siluavão de de sordem e.stasa ficando intolerável.
gin de 170-4, a obedecer aos govemadoMas os padres e frades, .soltos Ias estradas e arraiais, desmandaví ' scin atender a ninguém.

C> desembargador Teixei
as M,na.s frades dc diversas digmes levados pelo espírito do inte resse e nao do bem das almas”
A(é nas
nni pt)\oavões inaiort‘s
carta-réres. peim-se ●rn escreve coA . os assaltos nofiirnos a mão armada «^Tam comquci a noticia do descobrimento do acorreram ino, ■ Ví- r ouro,●Nos arredores cia Vila Hica morro de Pascoal da Sil aonde existia a c; téria, acliain
■ “‘«"Varain em adquirir cabedal por rs™
t ^òmp^dndo os'covernaljorcs^^rM^ ■ h nos púlpitos -iK- n ^ ^íinistros
ros. no \ a ou no outeiro ipclinha de Santa Quipróxima do local em cpic hoje admirável palácio d se o
o M
^ cumento.s numerosos É claro
re como se ' jncios iram em es, ■a
muisegundo doc autênticos.
pm piirtc dos rcirgrüsos^clomc,™
: rahoonte indicado confo ’
■
c a Inconfidência e a maravilhosa igreja do Carmo, acoi(avam-sc malfeitores m,e noite*, se esgueiravam pelas gremc‘s, mascarados nliais
: Oontro dos cegras L TZ
bou conduti
isovolhas
5: V., (inalqiicr razao e mesmo r
%: Negros <■ brancos se am„ti„avan, Jr
As casa-s dos minerador
J' dadeiros fortins, onde
^:>or sem nenliunia. ricos eram ver^ Os donos vivi-n>-i permanente nsco dc as.,altos iv pelias. c tro-
Sòinente em 1719 se orcr-mt-^
í.’ clens do governador, uma fôrça" púbi^y' niais ou menos considerável
guinte a notícia que dela temos '' por mna carta do Conde de Vimieiro ao de L; Assumar: ‘‘Também vão à ordem ke V
fr* Exa. dois capibãcs de cavalos, dos refor V. mados, com 60 soldados, tudo bem imí portante e necessário a um Governo que " .se acha sem forças algumas para sujei!' ções dos mesmos moradores. ”
useu vielas íno escondendo pu. nas dobras das E crap acatos ns. 1)1 ●rgneses retardatário.s, ''ain bc-in armados se nao transitaou com. guarda de ^■‘>rpo, eram assaltados e roubados . pabliea, (pianclo nientc úirnos, diam
na via não üstripados .sumárial^ir aqueles ligeiros diubo.s nocujos vulto.s leves logo se funna treva
Aliás, gindo i ostas sombras mascaradas, itcnadoramcnte do bójo da a Vila Hica
III- Havia qnahpicr coi.sa dc ^'ano, clu Vcnc/a de Ca.sanovu, naquela povoaçao mineira onde os máscaras ageis, nu febre dos motins políticos e dus intrigas passionais, saltavam ; gatos das Ijclesgas, fazendo brilhar nliais dentro cia treva
i'* eiii .
surnoiíln século te, venecomo pucomo raios de lua
● prevenido
Em 1720, na revolta de Felipe,dos ísantos, o ouvidor de Vila Rica foge '■enido por um mascarado. Em 1789ex-ouvidor Tomás Gonzaga é tmnbém por um mascarado de
preo sua
próxima prisão. Para combater niandades os mascarados, as iroratórios
multiplicavam os nas
Dickstü Econômico
Srs-»
l!
í'' í
escpiinas, cada um com a sua lam parina acesa durante a noite. Nos mo mentos dc terror, ali se reuniam os ci-i 7 t.kj..
ovelhas assuslacladãos pacíficos, como das pelo temor do lobo, orando na cla ridade briixolcaiite mas confortadora da cancleia.
O Conde de Assumar, frio, taciturno, astuto e sem escrú- cruel na repressão, pulo nos processos cpie adotava, armou o pü\ ü contra os embuçados malfeitores. Uma resolução sua, destinada a Vila Rideclara “ejue não ficarão incursos em * matarem os ditos lhes dará um
ca. crime algum os qrte mascarados n se , antes su oitavas de ouro a todo constar que matou algum prêmio de cein aciuèle que ' mascarado que apareça no morro ou na \ila, a qualquer hora da noite”, outro motivo de perEm 1718 èlcs' eram Os negros in
Entretanto, a revolta cie 1720, tam bém chamada de Felipe dos Santos, é o mo\ijnento político que serve de fecho ao período por nós designado como do o da sociedade bandeirante e, ao mes mo tempo, de ingresso para uma que a amenização dos modos dc \ida, a. segurança das instituições c os requintes espirituais foram progressi\’amcnte desenvolvendo, até atingir o nível geral de cultura aos admiráveis padrões do tempo da geração literária chamada Es cala Mineira.
senera em se
caudi- uneiite desassqssêgo.
revolta Interpretada em conjunto, a de Felipe dos Santos aparece como a vitória completa do E.stado, representado pelo go\’cmador, sobre os seus dois maiores inimigos, unidos naquela emer gência: a anarquia popular c o Ihismo dos potentados.
sede.
Diante destas duas fòrças hostis, mandonismo dos ricaços e a audácia sediciosa da ralé livre, a autoridade do Governo, mal segura de si, mal anipaencolhia

35.000 nas Minas, sendo orçaNiun por que quase metade deste numero estava concentrada nos distritos dc Vila Rica e do Carmo, onde o Governo tinha sua Esta imensa cscravaria superava Lin muito o número dos brancos e, ape● cia.s divisões internas e da sujeição rada cm precárias garantias, .se ●mimai em que vivia, constituía sempre ou vacilava, desde o tempo dos clcsbralortc'ameaça potencial. \adores paulistas.
Dirigindo-se ao Rei, o Conde de As- Não interessa investigar aqui as intrisumar acentuava o perigo constante a gas de campanário, as pequenas rivalitiue ficava exposta a escassa população dades, os vícios provincianos que derani livre, diante dessa massa oprimida e dis- origem imediata ao levante. O fato his.súbitamente, podería tóricxi, nèle, é a união da turba das '"iepelo de- Ias com os n\agnatas do morro, aquela simbolizada pelo bravo e radical Felip« dos Santos, estes pelo ambicioso sureiro Pascoal da Silva Guimarães, o senlior feudal do Ouro Podre.
sai persa mas que, unir-se, levada pela revolta e sespèro, fazendo valer sua força. LemConde os sucessos ainda recene propunha medidas e me- brava o tes dos Palmares draconianas de prevenção contra ‘‘uma canalha tão indômita”.
Em 1719 chegaram os pretos a esbosublevação geral, irradiada por distritos mineiros. São ainda ob'scircunstâncias deste levante
Ressalta também do episódio o eedimento magistral cio Conde cie Assu mar, \'etoruno das guerras da Europa, choque com bisonho,s revoltosos. jüso e dissimulado, lento nas tratativas e fulminante nas deci.sõcs, pródigo promessas c avaro no seu cumprimento, uina
em çar uma vários curas as projetado, ao mesmo tempo racial e so cial, mas o certo é que êle se esboçou e foi desmontado pelo enérgico e matreiro
Coraein escondendo sob ares ingênuos imensa lábia, uma glacial falta de escrú- Assumar.
79 DiCESTO Econónuco
0
t pulos c mn;i traiuiuila crueldade, o Go vernador de Minas foi bem a figura ma quiavélica fpie as condições turbulentas do tempo exigiam para rpic o Estado
Êste
pudess(i consolidar o -SCu poderio. t chefe felino é bem o digno antecessor do \'isconde de Barbacena, o vencedor da . Inconfidência.
Se Assumar se assemelha a Barb; Felipe dos Santos r- Tiradentes. Sem ter de ' vez pela rapidez » mento e da r, grandeza de a*lm; ta do
naniniscèiicia da reiiióis, índios, prelos e masoldados i‘ frades, jieias. camja-ando às soltas uo tem po das descolxTtas.
disci[)lina das ruas, confusão de uieliieos. avenliireiros. sem
também o Esmagado estava inamlonisnm <l»xs Paseoal da
Silva, dos Veiga Cabral, dos Mosqueifa íia Rosa, (pie eram, em Vila Ric-a, os epígonos de modelos anteriores, Borba Cato ctímo em .Sabará
na, monstrado fulminante do pena em que pen.-ceii,
a autoridade sobrepujavam i arrogância, (pic baiPovo (● principais, apafizeram causa coimiiu exim o
iccaproxima-se do , Manuel Nunes laljulgaeiii (àiefe, ou Domingos Rodrigues do Prado, em l’itangiii . a imnri 1 ‘‘ indòmi, l. vc- 0 ™^; r“’ ‘"“'■P'-' Sanlr.s ‘ Provin P""“>» k ^ ro'inham ambo contacto, s d b uiildes d as camadas mais hiil
imítrofe pu\o, e.stado social ....
í «"«Preensão d'as nece.ssidades ^ ao me.smo tempo rp,e fome dependência de iridispcn.sável
a com o que facilita a ^ píípulares, , ce certa in«>n.tcr ,, do iulgamontt,
’ E, .„,.o
<-sc,uartojado p„r ana>r a id'™l «.ra„,c.nto nv,d„, enquanto os Itonc : de prol qnc „ acompanhavam, talv™ causas diversas,
ns por pe escaparam à
,s Xiivíct ' consnquencias Ilistóricas do ; de Fehpe dos Santos são positivas o fm, da sociedade bandeirante confirmado pelo „to formaí dá f,: nomeaçao de Loureneo do Almeida Ura governador especial tle Minas, que constf tituui a maioridade política da * Du fiimarada e das labaredas á' sumiram o arraial de Paseoal reduzido ao sinistro Morro d da que ainda lioje
inativos à tremenda «■«●pressão, (piando não a auxiliaram.
CoUf,7f/,SYÍ()
Encerrado o eielo da sociedade ban deirante, ueira marcha a eiviliza(,'ão da capitania mi-- para uma ascensão que só SC interrompe; (jiiando a base cconómi> «pu; era o omo, entra om declínio.
Surpreend
ca (‘mos em botão, neste na máMina, como também aciueles viam reunido Alfere ríodo, a grande flor de cultura desabrochar depois.
As drama Êle marca breve capitania, que con da Silva, Queimavemo,s em Ouro Prê[; to; do sangue do mártir da liberdade, i cujo cadáver foi arrastado pelas ruas da vila em galopada, despontou, poderos ijicontrastável, a autoridade do Govêr Com a re\’olta de 1720, esniagou-sc a in-

a a e no.
Na arquitetura, igrejas como a do Padre Faria ou a de Cachoeira do Campo sao promessas das maravilhas do Canno c S. Francisco, de Ouro Preto, ou de S. hrancisço, dc S. João dei Rei.
peque iria os
Na vida doméstica sabemos que mineiros já então importavam, para seu regalo, pclúcias, sedas e veludos, cabeleira.s empoadas e fios de ouro de bor dar, vinbo das Canárias, azeite e sabão do Reino, manteiga das Flandres. Como se vê, material digno dos festins e bródios que Critilo descreve nas “Cartas Chilenas”, cm 1788.
-ji
r hXi Dk;ks!o EcoNÓ.Ntirí> v<
A ordem e a indisciplina xaram a eabe(,a\'orados, poder e assistiram (●
Eugênio Freire de Andrade, superin tendente das Casas de Fundição do
ro. cliogara em 1720 acompanhado, diz uma carta <lo governador-geral, “de petri^chos, materiais c oficiais que per tencem íKpiola fálirica”. Entre estes ofi ciais vinham abridores de cunho, que forasíi f).s primcjro.s artistas da capitania, mestres do futuros mestres no lavor das talhas e esculturas.
Eslava constituída a base sobre a qual Brasil k*vantaria, no coração de seu território, a grande eixadizaç^ão mediter-

rànea partida das rudes bandeiras. Ci- . ● vilização, talvez a mais alta do Conti- , nente Americano naquele século, tão al ta como o próprio Reino não conheceu , na mesma época e que nós podemos sumir em duas grandes figuras de ho mem e de artista, que ainda hoje enchem nossa comovida admiração:*o poeta Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, escultor Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa.
ree o
81 Dioksto Ec:c)n6mico
\
o
EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS^
(VOLTA R E 1) O N I) A )
Pkdmí) Dkmostuknks Uaciik , /^s realizações de obras públicas, f'* visando melhorar as condições S-- gerais da vida do País ou reíerihdo(● se objetivamente a necessidades i im ^ periosas, sejam elas de caráter eco- K nómico
ou simplesmente exigidas pe
’ lo conforto e bem-estar do constituem nobremente

povo, as grandes : preocupações dos governos bem in¬ tencionados.
Mas os empreendimentos dessa na tureza exigem despesas, às vezes de grande vulto, sendo, portanto, parte principal do projeto o estudo preliminar no sentido de obte sários recursos à 1’ os noeesexecução
Êste conceito é de banalidad trema, mas a razão de repeti-lo de no fato de
e exvesiser frequentemente (íesprezado, pois tem a perturbá-lo facilidade deslumbrante de obter re cursos por emissões de papel-moeda.
por Nem sempre, infelizmente, dá e, às vezes, até o ônus i'i K
a se ro saca-
a cuidadosamente que a obra realizada, embora com as melhores intenções, venha a pesar duramente sobre a economia do povo ou pelo menos que os benefícios por ela produzidos sejam bem inferiores qualquer contribuiçãoventura, caiba a lo onerosa, que coletividade, isto qwe se lhe impõe, é insuportável, pelos efeitos danosos que o mecanismo financei da execução determina, exigindo crifício popular excessivo e com ráter permanente. Êste fenômeno, que se pronuncia precisamente quan-
do se recorre a emissões de papelmoeda, pode chegar até o completo aniquilamento econômico da Nação. Basta esta consideração pai'a que seja ' devidamente apreciada a importância do estudo desta parte substancial do projeto, tanto mais que a tendência geral é recorrer aos processos mais simples e mais rápidos, fugindo de dificuldades inevitáveis, embora pa gando preço muito alto pela facili- * dade preferida. Acresce, para maior ● sedução dêste método tipognírfico de fazer dinheiro, que o efeito nefasto das emissões de papel-omeda é indi-' ● reto e sutil, espalhando-se silencio samente sôbre tõda a população, que , o paga através do encarecimento pro- ● gressivo da vida, e, na sua grande maioria, não sabe a que motivo atri buir a elevação surpreendente dos preços.
Poderia acontecer que a enormi dade do benefício recebido com a obra realizada fôsse de molde a tor nar tolerado o efeito nefasto assina lado, mas isto nunca se dá e, ao contrário, o sacrifício imposto ao po vo pelo encarecimento das utilidades é imensamonte maior do que qualquer conquista obtida no bom sentido.
Os governos precavidos não se de vem aventurar a realizações grandio sas e de alto custo por um processo financeiro destruidor, pois não é pa triótico nem aconselhável fazê-lo, impondo à Nação enorme sacrifício fu- j
E’ preciso evitar
consepruido. O exame prévio e deta- veitaremos de passagem a oportuniIhado das condições econômicas e fi- ■ dade para o exame teórico e prático nanceiras do momento, excluindo êsse método autófago, é o único ca minho que pode aconselhar o empreendimento em vista.
se ra
melhoramentos sob todos os aspectos, é preferível indubitiivelmente mas adiá-los para melhores tempos, da sua objetivação resultarem,. embocom os benefícios que se esperam, males que superam em valor negati vo completamente as vantagens obti das e agravam a situação geral ante riormente existente.
Não é êste um problema fácil, como à primeira vista parece, porque, fa zendo-o confuso em pontos importan tes, existem várias circunstâncias, e nem sempre se leva o estudo a ponto de tratá-lo com detalhes indispensá veis, para apreciação mais exata.
O caso brasileiro
O caso brasileiro exclui, para rea lização de melhoramentos exti*aox-dinários e de iniciativas reprodutivas de caráter público, o recurso às folgas orçamentárias,

o regime
pois a regra aqui é dos deficits, talvez mesmo A verdade é
em alguns casos já ocasionados pela execução de trabalhos importantes anterioi‘es, cujo montante de custo excedeu à previsão, que não podemos normalmente contar com essa fonte de numerário, e os empi'eendimentos devem ser levados a efeito por outros processos que pos sam fornecer os x*ecursos necessários.
Não há outra solução para o nosso Estado que não seja recorrer ao em préstimo interno ou extexmo. Apro-
In-
do processo tão nefasto, como sedu tor, que se vale das emissões de papel-moeda, com o intuito de eviden ciar a grandeza de sua influência ou não perniciosa e avassaladora. E' verdade que um país novo, como o nosso, está sempre a necessitar de Êste trabalho demonstra que em ca so algum se deve recorrer a tais emis sões, mesmo temporárias, sem que elas acompanhem produção já circu lante, porque os males que determi nam podem levar, sem essa justifi cativa, à ruína completa da Nação. Veremos que a solução mais indicada no nosso caso é o recurso a apólices da dívida pública ou ao empréstimo externo, êste último sendo melhor, sempre que for possível obtê-lo. felizmente é esta operação internacio nal muito difícil atualmente.
Assini, como processo geral, restanos examinar, a emissão interna de apólices da divida pública, traremos que há larga max-gem de lucro para o Poder Público no lança mento dêsses títulos, determinado lo reflexo ox'çamentário.
DemonspeO empre
go do produto de sua venda em quaisquei aplicações, pela compensação que determina sucessivaniente no au mento da renda orçamentária até o resgate final, permite que a cotação desses papéis de crédito possa baixar Mtavelmente, sem prejuizo para o Estado.
Veremos que a opex*ação é possível, sem que resulte ônus algum para o povo, ainda que a cotação da apóli ce desça a GO cruzeiros, além de não agravar êste expediente flacionado, contribuindo ao contrário o meio incomo corretivo dessa situação, escala lenta e moderada. Feita esta demonstração estudax-emos, em segui-
em
DicKSTíj Econômico 83
r
da, os efeitos nefastos das emissões de papel-moeda, medindo convenien temente o seu desenvolvimento pela exata apreciação, em casos que apa rentemente representam grandes con quistas econômicas dêsse processo. Depois faremos a comparação déste resultado com o naturalmente obtido, se esta iniciativa tivesse sido ideali zada com o emprego de apólices da dívida pública com o valor nominal de 1.000 cruzeiros, mesmo vendidas a 300 cruzeiros.
Venda de apólices
Consideremos em primeiro lugar os benefícios para o Estado resultan tes da aplicação do dinheiro obtido venda de apólices.
com a a uma re-
sua totalidade empregadas ou utili zadas para o bem da coletividade.
Esta aplicação indubitãvelmcnte determina a medida da parte que cabo ao Estado no lucro total da so ciedade, que se concretiza na receita, e no ano seguinte, por êste motivo, o Estado i-ecolherá rendas, que no ca.so de prosperidade devem ser au mentadas. Os fatos realmente assim se passam. Quando o indivíduo papa impostos, em virtude de qualquer ati vidade exercida, éle está remuneran do o bem <iue recebeu ou vai receber, por efeito da aplicação orçamentária. Muitas vezes sem esta, aquela não seiia possível, e em qualquer caso é sempre melhorada pela intervenr ção do Poder Público.
Em sinte.se, o im posto é sempre retri buído por benefícios feitos ao país pai*a seu desenvolvimento e propresso, o o princí))Ío moral em que i-epoLisa é exatamen te êsse.
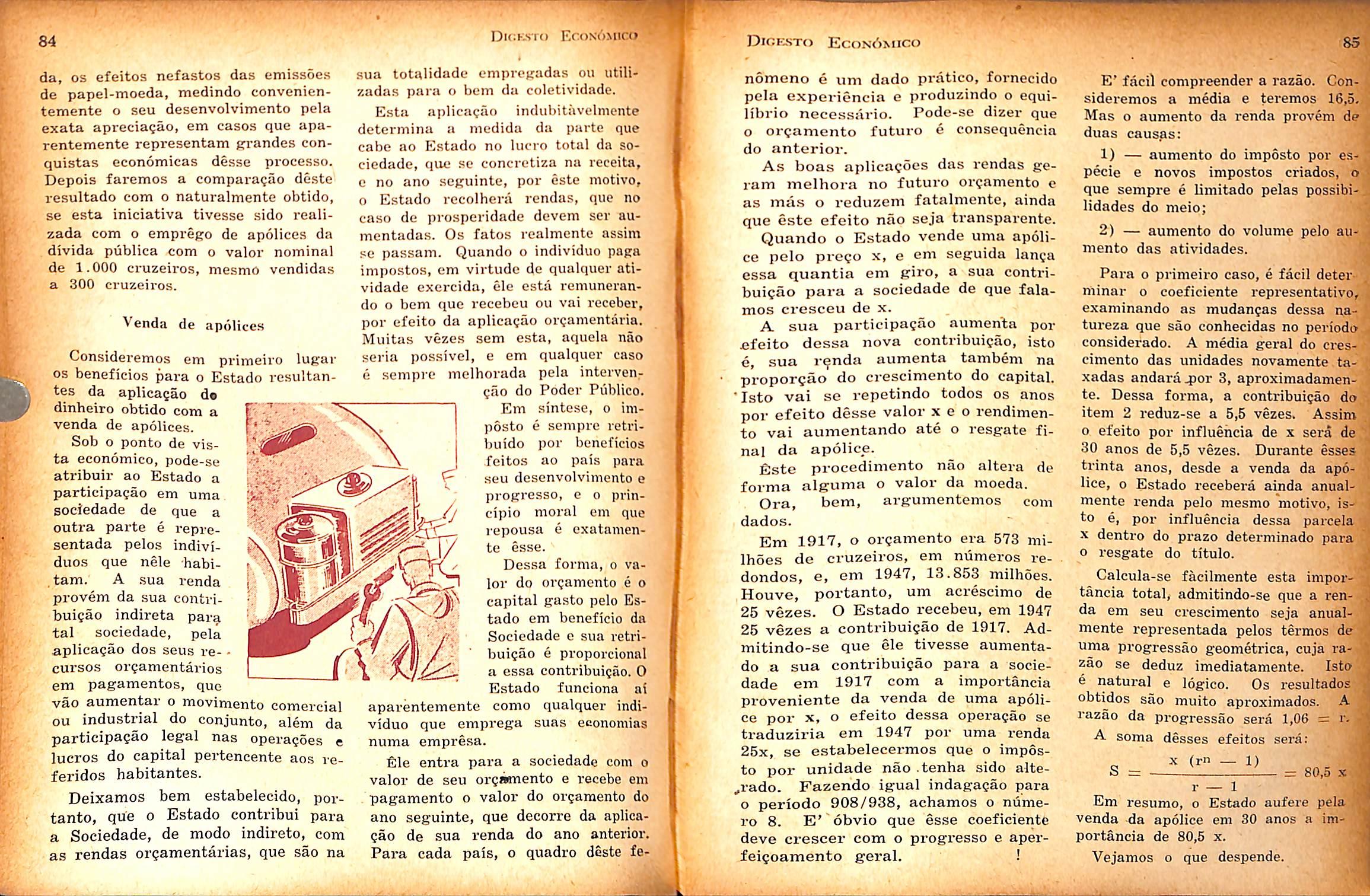
ou
operações e aos ve-
em pagamentos, que vão aumentar o movimento comercial industrial do conjunto, além da participação legal nas lucros do capital pertencente feridos habitantes.
por tanto, que 0 Estado contribui para Sociedade, de modo indireto, com rendas orçamentárias, que são na a as
Dessa forma, o va lor do orçamento é o capital gasto pelo Es tado em beneficio da Sociedade e sua retri buição é proporcional a essa contribuição. 0 Estado funciona ai aparentemente como qualquer indi víduo que emprega suas economias numa empresa.
Êle entra para a sociedade com o valor de seu orçáanento e r-ecebe em pagamento o valor do orçamento do ano seguinte, que decorre da aplica ção de sua renda do ano anterior. Para cada país, o quadro deste fe¬
fj.-. I^COSÓMICO Dkíksio 84
t. *
Sob o ponto de vis ta econômico, pode-se atribuir ao Estado participação em sociedade de que a outra parte é repre sentada pelos indiví duos que nêle habi tam. A sua venda provém da sua contri buição indireta para tal sociedade, pela aplicação dos seus cursos orçamentários ‘J }> I .
Deixamos bem estabelecido
nômeno é um dado prático, fornecido pela experiência e produzindo o equi líbrio necessário. Pode-se dizer que o orçamento futuro é consequência do anterior.
As boas aplicações das rendas |çeram melhora no futuro orçamento e as más o reduzem fatalmente, ainda
E’fácil compreender a razão. Con sideremos a média e teremos 16,5. Mas o aumento da renda provém de duas causas:
1) — aumento do imposto por es pécie e novos impostos criados, o que sempre é limitado pelas possibi lidades do meio;
2) — aumento do volume pelo au mento das atividades. que êste efeito não seja transparente.
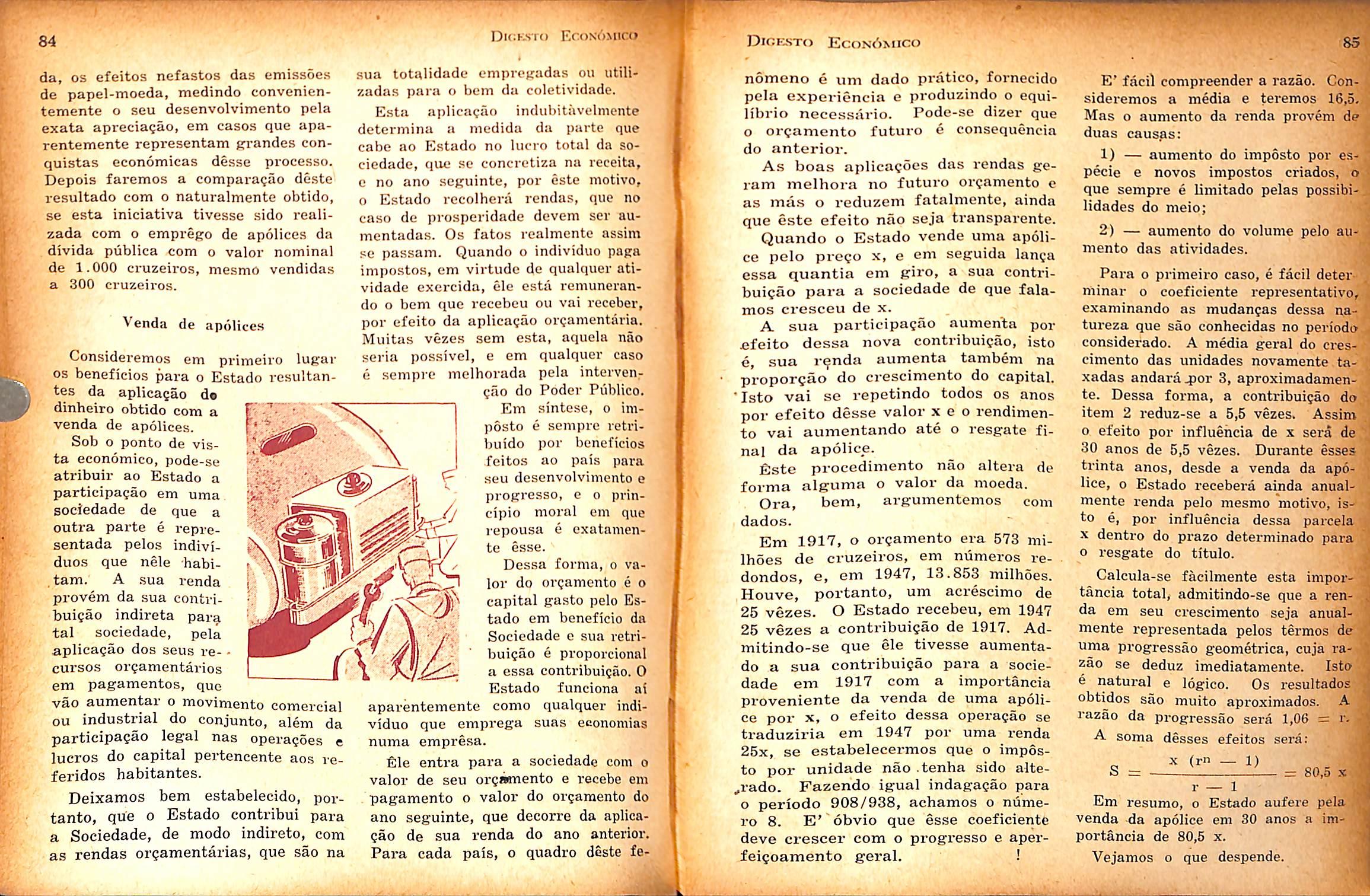
Quando o Estado vende uma apóli ce polo preço x, e em septuida lança essa quantia em priro, a sua contri buição para a sociedade de que fala mos cresceu de x. participação aumenta por efeito dessa nova contribuição, isto rçnda aumenta também na do crescimento do capital.
A sua e, .sua proporção
■ Isto vai se repetindo todos os anos por efeito dô.sse valor x e o rendimen to vai aumentando até o resgate fi nal da apólice.
Êste procedimento não altera dc forma alguma o valor da moeda, bom, argumentemos Ora, com dados.
Em 1917, o orçamento era 573 mi lhões de cruzeiros, em números re1947, 13.853 milhões, portanto, um acréscimo de O Estado recebeu, em 1947
Para o primeiro caso, é fácil deter minar o coeficiente representativo, examinando as mudanças dessa na tureza que são conhecidas no período considerado. A média geral do cimento das unidades novamente ta xadas andará 4)or 3, aproximadamen te. Dessa forma, a contribuição do item 2 reduz-se a 5,5 vêzes. Assim o efeito por influência de x será de 30 anos de 5,5 vêzes. Durante êsses trinta anos, desde a venda da apó lice, o Estado receberá ainda anual mente renda pelo mesmo motivo, isé, por influência dessa parcela X dentro do prazo determinado para o resgate do título.
dondos, e, em Houve, 25 vêzes.
25 vêzes a contribuição de 1917. Ad mitindo-se que êle tivesse aumentado a sua contribuição para a socie1917 com a importância dade em proveniente da venda de uma apólio efeito dessa operação se ce por X, traduziría em 1947 por uma renda 25x, se estabelecermos que o impos to por unidade não .tenha sido alte^rado. Fazendo igual indagação para = — 80,5 X o período 908/938, achamos o númeE’ óbvio que êsse coeficiente ro 8.
Calcula-se facilmente esta impor tância total, admitindo-se que da em seu crescimento seja anual mente representada pelos têrmos de uma progressão geométrica, cuja ra zão se deduz imediatamente. Isto é natural e lógico. Os resultados obtidos são muito aproximados. Arazão da progressão será 1,06 = rA soma desses efeitos será;
X (rn
cresto a ren¬ 1) S
r — 1 j
Em resumo, o Estado aufere pela venda -da apólice em 30 anos a im portância de 80,5 X. deve crescer com o progresso e apert feiçoamento geral. Vejamos o que despende.
Dkímsto Econômico 85
- Pagamento no reseate: mil cruzei^ ros e mais os juros de 5%, durante
X (rn—1) .,1,75
S = = 51.4 X 0,034 r — 1 5 30 anos.
todo 1.000 mais 3.400
p Feito o cálculo do débito, capitali» zando o juro de 6 em 6 meses tercè mos ao f 4.400 cj*uzeiros.
Resta-nos somente impor a condiI ção de que no resgate da apólice não tenha o Estado prejuízo algum, e consegue-se isto igualando o débito ao crédito determinados por x, isto é, pela equação:
80,5 X = 4.400 cruzeiros.
A equação tomará a forma:
51,4 X = 4.400
4.400
85 cruzeiros X 51,4
Vê-se (}Uo, mesmo adotando o coe ficiente do crescimento da renda orçamentária muito pociueno, 8 vêzes em 30 anos, o que revela um índice de progresso insignificante, ainda neste caso a venda da apólice por 85 cruzoÍ7'os não dará prejuízo.
vennão terá o Estado sem preuizo algum = 54 m o empréstimo feito W k
cruzeiros. por essa for ma oferecerá, portanto, enorme mar' i gem de lucro, quando a colocação dos títulos, como é possível, se fizer por valor superior a 54 cruzeiros Co Joquemo-nos agora nas piores condiçoes. Adotamos o coeficiente de cre.scimento correspondente ao perío do de 1908 a 1938, isto é, 8 o mais baixo constatado
* *
r.
J.1 r--
jTios anos, por motivos . e muito sabidos.
Teremos repetindo as operações, r*' Coeficiente de ampliação média do jK; imposto por qualidade = Coeficiente relativo to em quantidade
t.'’
29
3. ao crescimen-

8/8 = 2,666...
Corresponde na primeira hipótese,' muito aproximadamente, a uma apli cação de X à taxa de \l^/a ao ano, durante 30 anos, capitalizados anual mente e a segunda a 14%.
29
= ^ 2,666 = 1,034
Diofsto Er oNÓMiro 69
Daí se tira o valor pelo qual, dida a apólice, . prejuízo no resgate, í Valor de venda da apólice g j
que ó nestes últi
E’ preciso observar que, quando o Estado resgata a apólice, por esta forma, sem prejuízo algum, o produ to dêsse pagamento pode ainda cir cular, produzindo lucros de que o Estado é participante por lei, direta ou indiretamente, aumentando assim indefinidamente as fontes do renda do país, sem intervir no valor aqui sitivo da moeda circulanter n não ser melhorando-o ligeiramente.
excepcionais
Razão da progressão de 30 termos: Apreciação do valor dos elementos que resolvem o problema
t.-
2,666
r K '■ <-
Observamos que a hipótese feita anteriormente de ser todo o x, valor da apólice vendida, utilizado em drculação produtiva, pode sofrer re paros. Parte dêsse valor pode voltar
situação anterior. Mas é evidente que atenderemos convenientemente a condição desfavorável, se admitisòmcnte 0,2x tenham êsse
a essa mos que
destino estático. Em greral a parte imobilizada durante o ano, em mé dia, não excede dessa porcentagem, portanto, 0,8x para o efeito produtivo que lhe atribuímos. Neste caso, feita a retificação, teremos:
tempos diversos e que se realizam * anualmente bens no valor de l,2x. As despesas de administração etc., absorvem 30% da diferença acrescida, restando 20% para lucro da produção referida.
A participação do Estado
Restarao.
S = 04.40 X (soma dos efeitos da parcela de x em movi mento)

__ (3g,7 cruzeiros X
método de cálculo, baseado Outro diretamente na produção e efeitos derivados
nestas diferentes parcelas, que é de ^ 8 a 12% sobre o valor do bem pro- ■ duzido, fomece-lhe portanto, na pior hipótese, um acréscimo de renda igual a 9%x. Ao todo o dinheiro x do Estado obtido uma apólice, produz 15% ao ano. Capitalizando essa renda semestralmente em 30 anos, teremos 77 x.
Dai a equação:
77x =: 4.400 cruzeiros
apólice dinheiro supérfluo, giro tem aplicação determinada pode ser desviado.
so com
Pi*eliminarmente, notemos que a pode ser comprada O que está em e não
O Estado obtém diretamente 6% de juro pelo seu dinheiro em qualquer aplicação, inclusive no redesconto. Além disso, êsse dinheiro, pôsto em movimento pelos tomadores ou recebedores, vai proporcionar-lhes rendas indiretas, através de impostos vários, transmissões, selos etc., qualquer que seja o emprego que se lhe dê.
E’ preciso notar que, quando o Es tado paga mento público, deve começar auferin do em que lhe "pi'oduz êsse bem, equivalente em valor ou superior ao juro citado.
Admitimos mais que de um dinhei ro X, proveniente de venda de uma apólice, pôsto em movimento, 80% sejam aplicados produtivamente em
4.400 cruzeiros é a despesa total com uma apólice durante 30 incluindo
com a venda de anos, 0 seu resgate final
A equação acima significa que x em 30 anos deve produzir a quantia necessária para anular a despesa pioveniente de juros e resgate da apólice.
Teremos: x = 57 cruzeiros
Método de cálculo baseado postos de produção e efeitos deriva dos considerando a média da influên cia provável de x
nos im-
A quantia aplicada na compra de apólice provém de dinheiro imobili zado, sem aplicação produtiva.
Quando o Estado vende apólice lança s e o resultado da transação no
preço de um melhora- o lugar do juro direto, a renda mercado, é claro que êsse dinheiro vai a varias mãos, disseminando-se em diversas aplicações e entre elas a mais importante é a produção.
Temos de fazer agora algumas hi póteses razoáveis. Se todo um di nheiro X tivesse essa última aplica ção, o resultado seria aproximada-
Econômico 8T Dlc^:sTO
.
= 'l,5x e o lucro Preço mínimo da apólice mente em 1 ano
* líquido daí orçar de 20*7<^ a 30%x.
proveniente poder-se-á
' A participação do Estado sendo de ● 8a 12'/f, média de 10'''/, .sobre o valor da produção realizada, sob to das as formas diretas e indiretas, produzirá nessa hipótese, 15%x.
> E assim sucessivamente
-
para 0,8x a quota será 12''/J

para 0,7x a quota será 10,5''//
para 0,6x a quota será 9'//
A média dêsses valores
O mínimo será 9%.
é 12'//,x. e os
Adicionando os 6% provenientes da / aplicaçao direta, teremos 15%x cálculos já referidos dão
.1.4no
01 .02
70 cruzeiros
Média -= H5 cnizeii-os
Se admitirmos a mesma partici pação de (),0x, mas com a tributação média, então o resultado final será 15'// X para o Estado o o preço da apólice
4400
77
57 cruzeiros
Cálculo aproximado baseado no iml)ôsto sobre a produção e sôbre a renda separadamente
os I Produção obtida tativa, em epoca de marasmo, só 0,6 de entpssem em atividade, teríamos na pior hipótese para , Estado, admitida ainda *
X em 30 anos = 57 cruzeir
X renda total de a mais baixa
ír' tributação, 13% x e a capitalização í daria em 30 anos 43,74x.
X-
4.400 =: 100 cruzeiros 43.7
í
0,8x vêzes 1,5 = l,2x
Participação do Estado por imposto a produção e derivados 5 a 10%, exceto o de renda — 5% (mí nimo)
Renda mínima = 6%
sôbre 20% X
Lucro do produtor
1.2x = 24%x
Imposto de renda = 15% em média sôbre o lucro = 3.6%
Total:
6 -h 3.6 -I- 6 =15.6 .
O resultado será assim discrimi-
i ■
k-
Teríamos assim a renda de 13% durante 10 anos e a de 15% anos seguintes.
Resultado;
4400 = 49.6 cruzei- X
ros ou sejam 50.
13%x capitalizados semestralmente 10 anos = 34.15 e mais 34.15
15% em 20 anos = 61,62x. em
Não consideramos lucros extraor dinários, o que desvirtuaria o objetivo.
Kc;í Dicksi(í t S8
Se, embora contra a expec
í
Portanto, preço da apólice
Más é evidente que o marasmo não podería durar sempre e é lícito admi tir a normalização em 10 1anos
nos 20
89 nado:
jéÉ
Média s<?ral dos resultados obtidos
50 428 5-1 -1- (»8 õ7 -t- + 85 57 — 61, cruzeiros 7 7

da apólice por que pode o Estado <»1 cruzeiros é o preço minimo vendc-la sem prejuízo.
externo Em jiréstimo
Quando o Estado contrai um em préstimo externo bido é xA sendo x o tipo. Lançado nò meio circulante o produto da opeEstado a receber
Mesmo que se dê em 30 anos uma depreciação do papel-moeda igual 15 vêzes o seu valor inicial, o Estada nada perderá no resgate, recebendo 82 cruzeiros no ato de empréstimo.
A o liquido receraçao Fomento da produção por emissões de papel-moeda , começa o aproximadamente 17'/^ ao ano, ou em 30 anos 80,5 Ax.
Em 30 anos o empréstimo A a 5% a semestral, terá custado capitalizaçao
2.5 A 441 A . 136 + A ) 100 100 valor inicial. incluindo o seu para que o Estado não perca, aten dendo a que o empréstimo deve ser moeda forte, é preciso consicostumeira desvalorização da em pago derar a
I moeda nacional no momento do pa¬ gamento.
Em 30 anos podemos admitir pelos antecedentes que a desvalorização se ja igual a 15 vêzes. Colocar-nos- assim, adotando esse número nas péssimas condições usuais, como convém para a segurança do negócio.
Tomemos para estudo um caso dos mais sedutores aos que pregam erradamente o fomento da produção por meio de emissões de papel-moeda: A Usina de Volta Redonda, essa so berba realização, que envolve o mais corajoso esforço nacional dos últimos tempos.
Teremos a equação:
emos 441 X 15
80,5x = 100 82,1
X em
Dessa forma, a operação será feita boas condições, desde que o tipo do empréstimo não desça de 82 e o juro seja no máximo 5vc.
O efeito produzido pela grandiosi dade majestática deste admirável cometimento, a imponência opi*essiva de seus gigantescos aparelhos e po derosos maquinismos, o espetáculo feérico e indescritível das luminosas corridas de gusa jorrando de mons truosos fornos de bojo incandescente,, a visão fantástica dos Siemens-Martin, vomitando aço faiscante, consti tuem verdadeiras maravilhas de um cenário perturbador dos sentidos. O ruído formidável das operatrizes gi gantes na sua faina preparadora, odeslumbramento repentino que intei ramente nos domina ao contemplar em conjunto a magnífica realização, consórciô permanente da ^ meca- esse da metalurgia, num maravi- | Ihoso esforço produtivo, tudo isso nos * nica e
Sf) Dif:KS'i(> Kc:<)n6mk:o
a
asisoberba de golpe e nos prende pasaivamente a êsse mágico aspecto da empolgante conquista aí represen tada.
E’ a mesma impressão de riqueza que nos avassala o espírito arrebata, quando contemplamos exta siados, fascinantes, barras de que excitam nossa cobiça, ou lindas e raras pedrarias, amontoados de bri lhantes, esmeraldas, safiras

e nos ouro i-
, e rubis que nos deslumbram a vista e obnubilam a razão. Provoca tão magní fica opulência nossa incontidu ambiçao e entusiasmo, levados pela teea enganadora de a distância
cer que pequena é a percorrer aru ao valio.so rei dos metais Ciosas p chegar ou às preí,en\as, partindo do minério facil e tosco que lhes dá ori tais condições dc ongem. Em
ramente quo, apesar de simples, êstes problemas aôbre o efeito das emis sões, principalmento no caso de indústrias-bases, criadas por sua ação, envolvem certa sutileza que leva a grandes erros de apreciação, nu me dida exata dos encargos e dos re sultados obtidos.
E’ comum falar-se em baixa do som recorrer ã custo geral de vida deflação.
I1 arrebatamento nos lembramos de indaga encargos efetivos que pesaram pura a obtenção do prodigioso resultado ofuscados, sem dúvida, pela mir encantadora que nos exalta Há mesmo, colaborando no conceito geral errôneo ça espontânea de martipulado sempre de valor ao de seu preparo.
A vei-dade, porém, nem
não >■ quais 0.S agem sutilmento a .seguranproduto superior ser um sempre é
Isto é incompreensível, não se nega que alguns preço em altere, SG Por essa razão
Entretanto, artigos possam baixar de conjunto, favorecendo somente certas classes, mantondo-se, não obstante, a mesma situação econômica anterior, isto é, sem que o preço médio geral continuando invariável ^ relação entre a produção e o meio circulante empregado na aqui sição dos bons de consumo e utilida des.
so se esta.
Estudemos detalhadamente nosso caso metalúrgico, sob aspecto econômico nos seus fun damentos mais profundos, sem dú" vidar, entretanto, da boa-fé das pes' soas que se têm enganado na justa apreciação desta grande obra tal ponto de vista. Já procuramos espontaneamente justificar essa ati tude de enlêvo, pelo deslumbramento entusiasmo que ela produz em todos observadores. Confessamos since-
êste encarando-o sob e os
, outros bão de u almente subir, (juando se consiga ^ aixa daqueles. Mas a queda do pieço médio geral dos bons de consunio e utilidades, que mede de fato 0 declínio do custo de vida, . . pode dar quando o meio circulante monetário empregado na compra de bens de consumo e utilidades diminua em relação à mesma produção em quantidade e qualidade, ou quando esta aumente, consorvando-se aquele o mesmo.
Em ambos os casos há deflação com tôdas as suas consequências, isto é, decréscimo relativo ao meio circulan te para compra do tais bens em pre sença da produção. No momento que passa, o problema a resolver efetiva mente seria manter êsse custo, uma vez que as condições tendem natural mente a elevá-lo, por efeitos cuja origem reside em emissões passadas, que ainda não chegaram à deflagra-
9(J Du;t:sro I£(:on6mh:o
ção completa de todo.s os seus malefí cios. Será um grande serviço ao po vo, SC a estabilidade do preço- fôr conseguida.
Não temos o objetivo do estudar de Volta Redonda, a mais im- o caso
portante Usina de nosso pais, entran do no exame dos processos técnicos e administrativos, utilizados na auda ciosa construção e no seu funcionaTècnicamente, entretanto, mento.
consideramos um grande mal sempre dependência fundamental da Usina dos transportes de matéria-prima pe la Central, uma estrada cuja capaci dade já não atendia satisfatòriamentempo do projeto, às necessi-
A eficiência técnica da Usina nada tem com isso. Apenas o conjunto da população é afetado pelo efeito eco nômico geral daí decorrente e por onde a eficiência, sob o aspecto be néfico da produção, fica destruida e excedida pelo mal fundamental» que provém da origem do numerário» Nosso objetivo não é evidentemen te diminuir a grandeza de Volta Re donda, no que ela representa de es forço e patriotismo J)em intencio nados. '
a te, ao
Abordamos simplesmente uma sureconó- preendente face do aspecto mico do problema, Com a aspiração de que resulte daí alguma utilidade para o País em outros cometimentos semelhantes. dades do Estado de Minas e ao abas tecimento da Capital da República. E’ evidente que as modificações de traçado constituíam uma neces sidade urgente para melhorar êstes defeituosos, mas seria de-
seu serviços
masiado otimismo incluir nessa Ihoria todos os substanciais transporind^pensáveis à vida de Volta Redonda. Isto foi confirmado pelos fatos. A situação atual é constranA Central não está atendennecessidades de Minas e da
Volta Redonda é, sem dúvida, uma glória nacional, produto da técnica moderna e da capacidade dos enge nheiros que a construíram, mas seus fundamentos podiam ter assentado em bases financeiras mais salutares, evitando a contribuição imensa do povo, que a siiporta heroicamente no grande aumento do custo de vida por esta e outras causas semelhantes»
Entretanto, Volta Redonda teria sido de fato um sucesso econômico
me¬ tes gedora. do às Capital da Republica, para poder as matérias-primas ne- transportar absoluto, sob todos os aspectos, se 0 processo financeiro empregado para obter a maioria dos recursos mone tários fosse diferente e utilizasse outros meios, por exemplo, a venda de apohces e, se, além disso, a dependencia das matérias-primas não fosse tãp opressiva.

cessárias à Usina, a preços que lhe dão grandes prejuízos. Entretanto, esta também se queixa da incapaci dade da Central. A gravidade do fato é transparente. Não interessa, nosso exame atual, este da complexa realização, exclusivamente, nèste
porém, a aspecto Preocupa-nos momento, o estudo do método finan ceiro empregado, em que grandemenrecorreu à emissão direta ou te se realizações conseguidas por esse mé todo emissionista, precisamente nessa gloriosa e deslumbrante aplicação. indireta de papel-moeda,
Não antecipemos,’ Vejamos porém. ® lucro produzido pelas
G1 Dkiksto Econômico
Balanço da Companhia Siderúrg-ica em 1948 despendido Contribuição dos Institutos, Export and Import Bank, Depósitos Bancários etc

4..‘53(5.500 contos
730.000 contos
3.G0G.500 contos
Esta quantia de 3.G0G.500 conto.s, direta ou indiretamente, emissões, atendendo provém de a que o repíi
-
me orçamentários as emissões connão têm gerai das rea-
corrente desde muito tempo tom sido de doficits secutivos, e cessado, como fonte iizações.
Assim temos, ● dos, 3.600.000 dentes em números redoncontos, corresponempregados
emissão, realização de Volta Como
te.s, apesar de adotar também providôncia.s írerais que limita.ssem o exces.so do meio circulante.
r
720.000 X 3,5 anualmente.
a na duanual ~ 2.520.000 contos
Redonda, c ^ t^onstrução da Usina lou 5 anos, a emissão média i contos,, o que se re-
Nosso propósito é simplesmente medir em jíi-ohho o mal determinado pelo derrame de papíd-moeda. Aliás, trata-se neste caso mais de aplicação de dados estatísticos, sem necessida de de recoi-rer a induções teóricas na apreciação do fato. Em preral, os problemas econômicos, por sua natu reza, têm soluções difícei.s, e para os fins em vista bastam as suficiente-
mente aproximadas.
em realmonte 3
,5 vêzes o valor da circulação, como veremos abaixo.
correspon■ contos. a 12.600.000 circulação i'epiecusto de vida
:●
rneiros anos, como
ou mente os 5 pri^ UT veremos abaixo
o problema que nos preocupa nes ■ te momento nao e achar solução para OS males que nos afligem, agindo so bre os fatores econômicos da çâo, que decorrem em geral das produ, . . , con¬ dições de meio circulante e qúe dife rentemente atuam nesse meio. Neste caso seria preciso considerá-los sobre êles operar, particularmente, . por meio de várias ligações existen-
Em nosso país, o potencial monetáiio atingiu em 1948, em números re dondos, a 70 milhões de contos, ao passo que o volume geral dos negó cios se elevou a 150 milhões. Sendo 100 milhões destinados à paga da produção consumida, incluídos os lu cros, e 50 milhões empregados em operações concernentes a outros ne gócios, verificamos que o volume to tal das atividades, correspondentes a 150 milhões de contos, elevou-se a 5 vêzes o valor da circulação e o po tencial monetário a 2,5 vêzes êsse mesmo valor.
para
Dessa forma, para ter a parcela gasta com a produção consumida, isto é, a quantia destacada do poten cial com êsse fim, basta multiplicar
r KroNÓMicrf lo
r I
r
I
p™d\to“ '‘-“'“-o
A razão do coeficiente 3,5 reside que o volume dos negócios co muns para compra da produção, ab sorve i >
Adotemos 3,5 para velocidade da moeda, empregada no pagamento Z produção cornsumida. Isto ' , de nos 5 anos , I Êsse acréscimo de ei [ senta o aumento do
o que o povo paga indireta . para tal realização, durante
potencial pela relação que existe entre o valor da produção de consucste me.smo potencial, o que dá:
P = 2,5 C X 1.42 = 3,6 C se lançamos uma emissão de papel-moeda A, que aumenta o volume de negócios de 5A, o seu efei to em presença da produção consumi da reflete-.se pelo acréscimo de 3,5A valor despendido com essa aqui-
o mo e Assim, no siçao.
O preço médio será também aumen tado da relação entre 3,5A e o consufísico) sem haver ne- (volume cessidade de considerar qualquer efei to suplementar do derrame, pois ados investimentos deter-
mo mitimos que minados sejaiu iguais em valor à economia.
Em outras termos, o aumento total do custo da vida será representado por 3,5A.
De acordo com as fórmulas usuais, não haverá alteração no preço médio, neste caso de investimento igual à economia.
Mas como temos interesse de me lhorar as condições de vida, suponha mos que 0 investimento seja 1/4 da economia total. Dessa forma, conse guiremos 0 nosso objetivo, fazendo com que a metade da economia atue, aliviando a carga do custo da vida. Não é possível fazer hipótese mais favorável aos benefícios colhidos com o empreendimento, no sentido eco nômico e progressivo.
Teremos a seguinte produção se cundária de consumo:
36.000 X 5,52 = 198.720 contos.
Examinaremos influência complementar, e admitireefeito para minorar o mal
adiante qualquer mos este j ^ , da emissão, tornando folgadas nossas conclusões finais.
Êsse encargo de 12.600.000 contos
Esta produção de 198.720 contos corresponde a uma recuperação, na hipótese acima admitida, de não exi gir nova emissão para giro dos efei tos comerciais a ela correspondentes.

Teremos:
Onus em 5 anos .
●oduzida então 12%, mais ou menos, elevação geral dos preços das uti lidades, e o numerário emitido passou, por êsse motivo, a ser necessário inte gralmente para o giro dos negócios. Somente parte dos lucros podia ser novas produções.
Pi na aplicada em
Admitamos que, a^partir do 2.o ano, dessa circulação, em média, a 6% metade dos lucros parciais de foraee assalariados, calculados base, sejam aplicados em inoedores nessa vestimentos, e admitamos ainda que efeitos comerciais referentes a mercadorias daí provenientes girem necessidade de recurso a novas
os sem emissões.
198.720 contos
12.905.000 contos Recuperação . ...
12.706.280 contos
Assim, nos 5 primeiros anos, a con tribuição do povo para Volta Redon da atingiu a 12.706.280 contos, pagos no aumento do custo de vida.
assemos aos 5 anos seguintes, omo a produção neste período constou, no máxinjo, de 260 mil to ne a as e aço, a parte corresponen e ao valor da emissão nrçou por 200 toneladas. Se tomarmos por pre ço medio 4 cruzeiros por quilo, tere mos 800 mil contos, como receita bruta proveniente do efeito do prêgo da-emissão de 3.600.000 contos. ' em-
93 Dicksto Económic;o
Admitamos que o i*edesconto não necessite ir ao aparelho emissor.
Neste caso, êsse valor produzido deve ser considerado como recupe ração, que nos 5 anos elevar-se-á a 4 milhões.
Admitimos assim que o redescon to das duplicatas correspondentes à produção não determine emissão de papel-moeda. E’ nessa hipótese que
e já deduzimos essa impor- anos tância do ônus correspondente a êsse período. Vejamos a>;ora os 5 anos sepuintes, notando (jue a partir do <5,0 ano não se ti-ate mais de anuida de e sim de juros compostos da recu peração apurada no l.b quinquênio.

198.720 X 1.27(5 = 255.566 contos
recuperação se eleva a 4 milhões de contos no seíçundo quinquênio.
Considerando ainda
a . .. que 5% dessu im portancia, a metade do lucro Tável, sejam npvamente aplicados ahviar o custo de vida, teremos
5 anos para recuperação total, secundária:
.
A recuperação de tôdas as proce dências durante os 5 anos conside rados e em estudo será;
Pela j)rodução
Idem polo efeito de salá rio da construção Idem, salários, etc. da pro
I? = 220-800 contos. Ao todo 4
propa: nos ori.220.800 Temos ainda contos u
possio mosalários e forneciProdução, admi10% r êsse
mesm a po
40.000 X 5,52 = 220.800
Assim pois, 4.441.600 será a recu peraçao pela produção prònrinn, . dita e seus efeitos no 2 “
Calculemos agora a provenieZe lucros secundários, derivados da pr^ pria emissão de 3.600 OOn ●
lucros de f°™ecedores'T ZatriàZ:
Já calculamos para os prim
Recuperação pela produção da emprego dos lucros
dt
, , í j 1
anos a 0 preaumento do custo de vida nesse
O ônus total ao fim dos 10 será 12.905.000 x 6 = 77.430.000 e recuperação dos 2 quinquênios 4.893.880 contos. Resultará
juízo de 72.536.114 contos, pagos em espa-
ço de tempo.
A recuperação no 11.o ano será 1.818.084 contos, admitindo ■ dução total de 376.000 toneladas
a proou eiros õ
300.000 para quota correspondente aos 3.600.000 emitidos. Êstes núme ros são um pouco fortes, mas adotan do-os, admitimos a situação mais fa vorável ao efeito econômico da Usina.
empre
® íomecimento correspon¬ dente ao período da
sa e proveniente do acumulados dos salários, construção
1.320.000 contos
231.840 contos
266.244 contos
- ...●mJ
ErosÓMití^ 94 OiCK-STO
dução Idem dos Iuci’üs 4.000.000 265.566 220.800 220.800
^ considerar bihdade de aplicação, do do, de 6% dos mento relativos tindo um lucro de efeito. 4.697.166
Ideiíi pela aplicação dos iucróg etc. da fabricação anterior
1.818.084 contos
Resultado no fim do 11.o ano:
12.905.000 contos
Onus ; Juros do bloco consolidado ...
No 11.0 ano de funcionamento da Usina, o povo pairaria por quilo de aço produzido em Volta Redonda, por efeito de emissão,
14.713.721 = 49 cruzeii'os 04 300.000.000
3.626.805 contos
16.531.805 contos
3.0 — Idem proveniente dos salá rios e fornecimentos do l.o decênio consolidado, incluído o que provém da construção.
697.166 X 2.65 = 1.847.489
28.000.000 + 3.967.200 + ..
1.847.489 = 33.814.689 contos
Qual o re sultado 30 anos depois do inicio? recuperação corres-
Examinemos o futuro.
Calculemos a
ônus em 30 anos
. Calculamos essa parcela nos 5 pri meiros anos em 12.905.000 contos. Nos seffuintes 26 teremos: pondente a êsse período.
Nos 10 primeiros anos determinavalor a importância mos para êsse de 4.895.886, proveniente de anuidade.s correspondentes a 6% dos salá rios anuais e 5% dos lucros e mais a produção propriamente desse pe ríodo, além do 5% dos salários de ponstrução. A partir do 6.o ano estes começam a agfir somente pelo rendiacumulado sob êsse títülo.
nos anos seguintes mento Teremos
1.0 Recuperação da produção
4.000.000 + (1.200.000 x 20) = 28 milhões de contos
2.0 Recuperação proveniente da aplicação dç lucros e salarios de fa bricação.
120.000 X 33,06 ="3.967.200
12.905.000 X 47.72 = 616.826.600 contos
Finalmente:
615.826.600 -|- 12.905.000 = 628.731.600
628.731.600 - 33.814.689 = 594.916.911
Assim o ônus resultante em 30 anos será 694.916.911.
deriamos construir 138 Voltas Redondas
A situação em 1970 (30 anos após O inicio) será a mesma determinada "bilhões de contos contraído

Examinemos agora anos.
Com essa importância po Recuperação:
nessa data. o efeito em 50 contos
Produção = 4.000.000 -p (1.200.000 x 40) = 62. 000.000 de Idem proveniente dos mesmos sa lários o fornecimentos em 4 anos:
120.000 X 120,8 = 14.496.000 contos.
Idem proveniente dos salários, for-
necimentos, etc. do l.o decênio, incluí do o que provém da construção
697.166 X 7,04 = 4.908.040 contos
Resumindo:
Dicesto Econômico 95
I
ônus em .50 anos
12.005.000 X 1.50,7 = 2.OOO.028..500 contos
HesuUado final:
2.0G0.028.500 - 71.404.048 = 1 .080.524.452 contos
Assim em 1000 Volta Redonda te rá sangrado a economia popular de sa colossal importância
sfiue é paira
1.089.524.452 contos, pela coletividade, incluído o juro per^ dido. ■“
Com êsse dinheiro poder-.se-Íam construir em tal época 458 Voltas Redondas.
A média anual será
1.980.524.452
— 39.790.480 contos 50
Assim, realmente, durante ê anos, o povo contribuirá com
esses 50
.30.790.489.000
sideiações não deixemos de lado, sem quahjuer referência, o fator nacio nalista {|ue é, sem dúvida, importan tíssimo, envolvendo porém, a impossi bilidade de medida. Isso não inter fere, entretanto, eom o objetivo em ● vista, ao mostrai- a enormidade do sacrifício popular, na conípiista do resultado. Exaírera-se muito n in fluência do a(;o nacional no desenvol vimento do País. Kvidentemento não são necessários êsses arjíumentos relativamentc fracos para dar à írrando Usina o destaque merecido. Costuma-se va«:amente arífunientar com o benefício decori-ento de outros
empreendimentos possibilitados pola sua K’ preciso
existência. cruzeiros = 132,G3 300.000.000
cruzeiros por quilo ou sejam 133 zeiros por quilo.
cru-
Haverá, por certo, a considerar aspecto favorável aos compradores quando o preço de venda do aço nro’ duzido aqui fôr mais barato do oue o importado. Mas. como o meio dr culante nao se altera por êsse motivo nem o volume físico da produção si’ derúrgica diminui por essa circuns tância, segue-se que o custo geral da vida deve paradoxalmente elevar pamaioria do povo o computo já menor, que aproveita diretamente a número limitado de compradores. Por último, é necessário e justo que nestas
, porém, notar (jiie em (lualcjuer nova indús tria instalada o aço que lhe servir de base, tem de ser pai?o à Compa nhia Nacional quó o iiroduzir, cm di nheiro ou valor correspondente, isto é, com parte do capital destinado ao

novo emiireendimento e o restante dêste capital, ainda necessário, não tem visivelmente origem na existên cia de qualquer usina siderúrgica, n não ser que se trate do emprego de parte de lucros e salários, cuja in fluência já consideramos.
ra a feito, em virtude dêsse preço con-
Além disso, não é justo e razoável atribuir glórias de uma iniciativa fe liz ünicamonte à existência dêsse ma terial, porque o aço importado tam bém poderia preencher êsse papel construtivo.
r l^crosÓMiO Dn;Ksn>
-!- M.400.000 -4- 4.008.(140
52.000.000
= 71.404,048 contos
5
íl V
,1'1
t;
rf* I>
●í j
» I 1 f
0
1' I r
principalmente atua como atribuir qualquer valor
Assim, pois, a existência da usina siderúrgica, cm relação a novo em preendimento, agente fornecedor do material siderúrgico a mais um freguês, sem que se possa a êste fato no sentido da recuperação.

Avaliação do prejuizd, entrando em rendas indiretas do conta com as
Estado ao fim de 30 anos
Já demonstramos que a entrada em circulação d c importância om dinheio Estado, ao fim produz para de 30 anos, o rendimento 80,6 x.
Êste resultado foi obtido, consideo Estado afinal atua
ro X rando-se que com o sociedade em que participa anualmenelcmento de uma verdadeira
total em 30 anos
Recuperação
Reflexo orçamentário Recuperação pela produção
Resultado final:
Onus Recuperação
Prejuízo
re-
te com o orçamento vigente e recebe como lucro o orçamento seguinte. O estudo referente a esta questão sumimos no capítulo que trata das realizações de obras por apólices.
Assim, a introdução dos 3.600.000 contos de emissão produzirá, em 30 anos, para o Estado, a renda de 289 milhões 800 mil contos, pelo motivo indica do, considerando a média do cresci mento orçamentário.
3.600.000 X 80,5
Admitindo que essa renda reverta em benefício do povo, considerando ainda a produção calculada como recupex'ação no capítulo anterior e le vando em conta também o lucro fic tício da empresa, na base proporcio nal adotada igual a 120 mil contos, teremos:
289.800.000 contos
33.814.689 contos
323.614.689 contos
628.731.600 contos
323.614.689 contos
806.116.911 contos
10.170.500 30 anos, perde o povo Assim, em 306.11G.911 contos, mesmo adraitinrenda do Estado, derivada efeitos secundários da do que por inúmeros
contos = 33.900 cruzeiro.s
300.000 quantia lançada em circulação para realização da obra, seja considerada recuperação do empreendimenEm média anual a perda de
a como to.
305.116.911
= 10.170.600 contos 30 ou por tonelada
Por quilo de aço — 33 cruzeiros.
Cada quilo custará ao povo 83 cru zeiros durante os 30 primeiros anos, apesar da consideração sobre a renda pública, admitindo a reversão em be nefício do povo, o que não é rigoro samente exato.
97 Dicesto Kcünómic:ü
Melhoramentos realizados com a venda de apólices ou empréstimo interno
Suponhamos que êste mesmo caso de Volta Redonda fôsse realizado o produto da venda de apólices, a ju ros de 5Vr, em lupar da emissão ferida.
Admitamos ainda que essas apó lices fossem vendidas a 500 cruzeir cada uma. ma
com reos Apliquemos no probleos resultados do estudo
E’ claro acima, co que os 3 nto.s .600.000 serão obtidos pela entrepa de 7.200.000 apólices de réis. um conto de
Comparemos os resultados ao fim
Resultado final:
Por êsse processo, o país enrique cera em 30 anos de 291 milhões contos, desde apólices a 500
de que se coloquem cruzeiros em média
as contos
de 30 para o rosírate das apólices.
anos, (jue e o prazo comum
O dinheii-o emprcírado no empreen dimento e mais os lucros provenien tes da produção propriamente dita atinífiião a mesma recuperação que já calculamos para o caso das emis sões, isto é, 33.818.(589 contos. Mas a renda orçamentária do Estado cres cerá do 280 milhões 800 mil contos.

Ao todo 323.018.(580 contos. Exa minemos aíToi’a a despesa:
Os juros das apólices papos semes tralmente atinpirão em 30 anos, a 180.000 contos x 136 = 24 milhões 480 mil contos e o respate 7.200.000 contos. Ao todo 31.680.000 contos.
323.618.689 contos
31.680.000 contos
291.938.689 contos
Suponhamos, entretanto, que o au mento da renda pública se fizesse na pior hipótese, em que o coeficiente de crescimento é 50,1 em 30 anos.
.
i. Renda Estado circulação referente vaioi da apólices Recuperação 1por í- ao
185.040.000 contos
t
218.858.689 contos
Renda Despesa
218.868.689 contos
31.680.000 contos Lucro
187.178.689 contos
98 DiííKSTO líCONÓMtCO
I
Renda Despesa ... Lucro
.. ●í ■ . .
..
● ● ●
í'
■
i ;●
Teríamos: , para conseguir os 3.600.000 Jt l
Recuperação:
33.818.689 contos
Resultado;
1^c:onómic<»
Ucsultado do eniprêRo das apólices na base de venda de 300 cruzeiros em substituição à emissão de 3.600.000 contos de papel-rooeda
12 milhões Número de apólices necessárias
J uros semestrais capitalizados eni 30 anos....
●300 contos X 136
Valor do respate
40.800.000 contos
12.000.000 contos
52.800.000 contos
Renda Geral
Aumento da Renda do Estado na pior hipótese (Coeficiente 50,1)
Recuperação
Resultado final Renda ônus
Benefício relativo indireto para o público em geval: 18.450 cruzeiros por tonelada
186.040.000 contos
33.818.689 contos
218.858.689 contos
218.858.689 contos 52.800.000 contos
166.068.689 contos
dente ao juro de 5%, influência estaindireta, uma vez que o acréscimo do dispêndio com a manutenção priva o povo de empregar, em rendimento, essa quantia de que é despojado. O juro a ela correspondente outras mãos. Mas em verdade passa a 0 povo
30 anos.
Observações
ou 18 cruzeiros por quilo Assim, mesmo vendendo a apólice o lucro da Nação a 300 cruzeiros, atinge a 166 milhões de contos nesses não experimenta diretamente essa perda, sentindo apenas de modo obje tivo a que decorre do aumento da circulação. A faculdade que êle perde, de obter renda com o que paga a mais para sustento, representa rigorosa mente o valor calculado pela capitahzaçao referida, mas é claro que isto nao sam propriamente do seu bôlso.
em
Cabem aqui 4 observações impor tantes sôbre os resultados obtidos, embora de cunho fundamentalmente exato e matemático, l.o) No cálculo do ônus total certo prazo, proveniente do au mento de circulação do papel-moeda, refletindo-se na exacerbação do cus to de vida, consideramos não só essa perda, como também o efeito de capi talização da importância correspon-

^ efeito do aumento da renda orçamentária como consequên cia do lançamento
. . . sm circulação da quantia emitida, não reverte direta mente em benefício do povo, no sen tido de aliviá-lo dos encargos do encarecimento da vida. Os benefícios
99 X!)u;k.st<>
que êle produz sobre a coletividade são vários, porém não daquela natu reza. Melhoram-se os serviços públi cos, aumenta-se o número de funcio nários, constróem-se e readaptam-se as vias-férreas e as auto-estradas, constróem-se pontes etc., e afinal aumenta-se também o vencimento do Tudo isto evidente- funcionalismo.
mente não opera diretamente no sen tido de aliviar a carga corresponden te ao custo de vida, a não ser o que se refere à melhoria de vencimentos, afetando somente o funcionário pú blico.
3.0) — A usina tem vida eficiente limitada, logo as comparações não
ônus:
12.600.000 contos x 26 ..
Recuperação já calculada
podem exceder de um prazo determi nado pela sua duração.
4.0) — Quanto ao lucro da empre sa, não é perfeitamente sej^uro que se mantenha sempre elevado, aten dendo a que os preços atuais são muito altos e devem naturalmente baixai', porque dependem até certo ponto dos mercados internacionais.
Levando em conta estas observa ções, podemos fazer um novo apa nhado geral ao fim de 30 anos, sobre o valor econômico do empreendimento.
Neste computo só consideraremos o aumento do custo de vida, sem atri buir-lhe juro, nem levai-emos em con ta o crescimento da renda orçamen tária, mantendo os demais dados jâ estabelecidos e calculados.
327.600.000 contos 33.818.689 contos
293.781.311 contos
Prejuízo, mesmo atendendo às ob servações feitas que tiram o rigor da apreciação, mas que estão de acordo com o conceito público
293.781.311 contos.
ônus:
12.600.000 X 46
Recuperação já calculada
Em 50 anos, a perda total pelo aumento do custo de vida atingirá, nesta hipótese, a 608 milhões 195 mil 962 contos.
O povo terá contribuído indireta mente por tonelada de aço com:
508.195.952
= 33.879 contos ou 33 60x300.ooa
Assim, o prejuízo para o povo em 30 anos montará a 293 milhões 781 mil 311 contos, decorrente da emissão de 3.600.000 contos.
Em 60 anos, mantendo êste critério, os números serão os seguintes:

579.600.000 contos 71.404.048 contos
508.^5.952 contos ● cruzeiros por quilo de aço.
Em 60 anos a Usina estará obso leta, exigindo reconstrução quase completa para nova vida, o que acar retará novos dispêndios.
Não se justifica levar o cálculo além desse prazo.
O mal da emissão não poderá mais ser anulado por quaisquer benefícios
DioKsio Econômico 100
ij
oriundos do próprio empreendimento, que passará a depender de fatores novos.
Note-se que o prejuízo cresce com 0 tempo por efeito de recuperação insuficiente.
Assinalemos bem estes resultados obtidos na hipótese de não admitir nem juros para o ônus anual, nem recuperação pelo orçamento.
Resumo dos resultados obtidos no exame dos métodos financeiros empregados, e de outros mais indicados na construção da usina de aço
(Emissão de papol-moeda)
Realização, utilizando emissão de ....
3.600.000 contos como complemento Método adotado na construção
Pago pelo povo no aumento do custo de vida dm^ante 30 anos ..
594.916.911 contos
Idem, idem, idem durante 50
2.® caso — (Papel-Moeda) 30 anos
1,® caso anos ... povo a aumentada por
Considerando como lucro do renda orçamentária,
1.989.524.452 contos influencia da circulação dos 3.600.000 contos
Prejuízo
3.® caso — (Apólices)
Empregando o produto de venda de apólices a 500 cruzeiros, em lugar da emissão dos 3.600.000 contos
Método indicado
Beneficio indireto para o povo em 30 anos -
4.® caso— (Emissão de papel-moeda)
Não se considera o efeito orçamentário, nem se capitaliza o prejuízo anual pelo aumento do custo de vida. Recupera ção: as mesmas já calculadas. Emissão de 3.600.000 contos .
Prejuízo efetivo em 30
6.® caso — (Emissão de papel-moeda)
O caso anterior em 60 anos

Conblderações finais
306.116-911 contos
contos
508.195.952 contos
mes¬ mo
Ficou assim estabelecido que, vendendo a 60 cruzeiros a apóli ce de conto de réis, juro de 5%, pago eemestralmente, ainda assim o Esta do não perdería nesse negócio.
Dessa forma, 60 cruzeiros é o li mite minimo por que se pode negociar O título.
E’ evidente que esse preço nao sedeve ser atingido. Nosso i*á e não
intulLo é esclarecer bem ò caso e mos trar a margem enorme de que dispõe,
101 Digksto Ecí)nómico
291.938.689
293.781.311
Prejuízo anos
contos
quando se realizam obras utilizando como recurso financeiro a venda de apólice. Entretanto, é claro que o preço não baixará de 400 cruzeiros, porque a essa altura, já o juro real é superior a 12%, considerando que o pagamento é semestral. Poucos se rão os negócios melhores que êsse.
Além disso, o processo exige o es tabelecimento preciso de um progra ma, de modo a limitar a retirada do numerário do meio econômico, embo ra êle provenha de lucros.
ISupondo que os lucros anuais dos negócios em geral andem por 15 mi lhões de contos, é claro que dessa ■ parcela pode ser retirada a importân. cia^ de 3 milhões para o emprego em apólices, sem qualquer abalo. Mas j limitemos Ihões de contos.
essa contribuição a 2 mianuais
O programa de obras deve fixar a quantia de 2 milhões de contos para execução de melhoramentos in dispensáveis ou reprodutivos, que po derão ser realizados em certo núme-. ro de anos.
E' claro que a despesa de juros de ve ser orçamentária, mas é também "lK. lógico que o orçamento deve mentar mais rapidamente.
p Algumas reflexões sôbre estes ● surpreendentes resultados
1.989.524.452 contos, representando com rigor matemático o sacrifício do povo em 50 anos, causado pelo papel, moeda emitido para execução das obras, corresponde à perda inicial de um capital de 173.605.972 contos. Verificamos facilmente o fato con siderando essa quantia aplicada a ju ros de 5% capitalizados durante 50 anos. O prejuízo em 50 anos é equivalente, portanto, à perda dêsse capital desde o início com os juros acumulados durante ésse prazo. Isto quer dizer que a perda dessa quantia, logo ao começo dos trabalhos de fun dação da usina, produziría o mesmo efeito em 50 anos que o funcionamen to nas melhores condições da fábri ca, vendendo seu produto, em média por 4 contos a tonelada de Se em tal época contraíssemos
os açü. em préstimo daquele valor, ou vendésse mos apólices para atingi-lo, poderia mos com êsse dinheiro, construir 4ü usinas iguais à de Volta Redonda e o ônus daí decorrente nesse momento seria o mesmo que o produzido pela emissão do papel-moeda empregado na construção de uma Volta Redonda.
Dizemos no momento porque o ônus decorrente de emissão de papel deixa nunca de solapar-nos.
nuo
nas pro-
^ Não há dúvida alguma que a instafj, lação de uma usina de aço, porções representadas por Volta Re» . donda aqui»ou ali, era uma necessiF dade indiscutível. Mas o processo financeiro utilizado comprometeu o suP cesso.
Desprezou-se o elemento mais importante da qüestão, que era a co●5 leta dos recursos necessários.
> A .e^iorme importância ● de

508.195.962 contos
E’ preciso notar que não pode ha ver maior otimismo na apreciação da eficiência do empreendimento estuda do do que o adotado neste caso pela escolha dos dados.
A importância inicial que prodii-
Dicesto EcoNÓ.Nric» 102
>
fA
au-
Na hipótese mais favorável ao su cesso da usina, em que não se consi deram juros sôbre o que o povo per de, determinamos o prejuízo em 50 anos no valor de «I.
zíríâ essa quantia cm 50 anos, ca pitalizada a 5%, seria
de ao juro de* quase 17 V<, dimento o empieennão traria ônus alRum para o povo e, ao contrario, dai*ia om :10 anos um lucro para o Estado do do 200 milhões de mais nu

508.195.952 contos = 44.345.100 ,. , contos, ainda lyputese do pior crescimento da orçamentária.
11.46
0 sacrifício imposto ao povo cor responde de início ao custo de 10 Voltas Redondas.
da i-se que^ com êsse dinh
lam então construir 50 nas semelhantes! Neste
neíicio
eiro
usi-
r Dicf-sto EcONÓMKX) lOíJ
r
E dizerpoder-seen¬
Entretanto, utilizando recursos pro venientes de apólices, mesmo vendi das a 300 cruzeiros, o que correspon-
SALÁRIOS — LUCROS — IMPOSTOS
AlJX) M. A/.i:vki)0 f
1936, a leitura cie um 'f VTO de Gustavc Bessièrc pcqucnu li- “Fèllia d;t Manliâ”, «jue entúo dirigiu, a clí.strihuivão ! polo Brasil. . .
dr inilliõos d(! exemplares \cin as ilustrações do causou-mc tal impressão que resolví traduzi-lo, ingênua suposição dc cjuc , conhecimento fôsse muito útil aos ; patrícios.

na o seu amplo meus espccialmente àqueles e ■ ocupavam postos elevados na administ‘raçao publica, O lançamento dessa obra
m- T adaptado
K <3c “CINCO LIÇÕES DE K RACIONAL”, foi sucesso” de livraria,
-saudosí^ Bolinimtc, cjue ponteavam os inomentíis mais críticos do livrinho, ti veram ha.slantí- f()r(,M para atrair leito res.
economia verdadeiro não obstante; um 4<* mum renòncii,!? ^ ''»*>vol.nc.nlo r
K crMcf'o P<^la B
H reponüido com o res ir ultado do K CIO e. alguns anos depois, o livro J-. exposto como saldo a Cr$ 5,00
W piar... Não é preciso dizer do desat^ntamento. q„e procurei disfar Sj transformando-me cm um dos siduos compradores da arrematar 20
qu negó me ça mais as f>í>ra, até ■ fui
Ao encerrar a.s idéias a última lição, seguindo í‘xpostas pelo autor, sugeri 13<;lim)ntc a rtipresentação do ino dos preços da seguinte forma: dois postes, um dcnoiniuado “S.M-.ARIO” e outro deiro dc
a mecanistí IMPOSTOS”, erguidos no pica- um Circo, sustém nm arame borizonlalmente, sobre o qual so equi libra o “PBIilÇO”, eoni o auxílio de um guarda-eliiiva O arame tem suas extremidades enrola das
denominado LUCRO”. em dois cilindros
-- era o exemu , dc mn lado re gulado por uma gorda matrona chumnPRODUÇÃO” o do outro da U por um
r. exemplares para ofe- magro cidadão com o nome de “CON SUMO”. Nas arquibancadas do Circo, c busbaques assiste ao espetáculo do liomem “PREÇO” ; se equilibra no arame, em nível deter minado pcl dos “IMPOSTOS
- do de ideia-f,.™. eo confessar anora í. dezesses anos passados, quo continL á 11^., pensar que essa pequena obra do ilustre economista francês, embora vazada em linguagem bastante acessível e som ■ mmores pretensões, contém inúmeron valiosos ensinamentos que “ainda riam de grande utilidade m- tadistas, velhosJf êles se dispusessem
uma multidão d que a altura do “SALÁRIO” e e conforme a
it seuos nossos ese novos, uma vez que
« , j - ^ tomar conheoi■ mento de suas três centenas de . nas . Mas, a experiência anterior d£iluít- sionou e tirou a confiança, a despeito í da generosidade de Rubens dc Amaral, ^ quando preconizava, nas colunas dá
OFERTA” concedida pela “PRODU ÇÃO”, ou a “PROCURA” fixada pelo CONSUMO”.. . Parece-me muito claro tudo isso... Qualquer criança do primeiro ano do ginásio compreen derá o funcionamento desse equilibris ta no arame — arame que pode ser também compreendido no sentido da moeda...
»* (( Fica perfeitamente jlaro
que o nível geral dos preços é preclpuamente determinado pela altura dos salários e dos impostos, que formam
duas colunas cpie sustentam o arame. O aumento cia produção, resultando em maior oferta, fará descer o preço; en quanto cpic o consumo determinará a maior ou menor procura, fazendo ele var ou abaixar o preço. O lucro, que é a margem concedida entre o preço de custo c cie \’encla cias utilidades, ate nua um pouco as flutuações, como o guarda-clni\’a cio equilibrista do arame.
cfeilo” c comum cousideni-lo mais co-_, cxmsequència do que uma das ciiu-'l sas do encarccimento da produção. É j c.xuto que quando se desencadeia o sur-.j to inflacionário toma-se difícil, senão ' impossível, distinguir nitidamente a in- : fluência dos salários no custo da pro- *■ dução, porquanto a antiga equação — ’ salário/custo da vida — se deforma logo. ' Mas, a análise objetiva do problema de- j monstra que o aumento de salários, sem j um aumento simultâneo da produtivida de — vale dizer, um aumento imediato, da quantidade dc serviço prestado retribuição ao salário — conduz fatal mente das coisas.
mo em ao encarccimento da produção
A lembrança dessa minha antiga e.\pcricncia literária veio-me à mente ao ler, há poucos dias, o notável trabalho apresentado i>or Josó A. Rubião a res peito da inflação c seus problemas. O ilustre conterrâneo, que há muito se de dica aos estudos econômicos e finaneoifocalíza com grande propriedade a ros, Da mesma fomia age qualquer au mento de impostos, quando não acom panhado de melhor ou maior serviço oferecido pelo Estado. Como bem dizia ! o imposto é o preço dos viços do Estado”. Assim como o acréscíimo de salário

influencia clo.s dois principais fatores salários c impostos — no nível do custo da vida c, do poder aquisitivo cia moeda, gra, os apreciadores dessa questão con centram suas atenções especialmcnte no equilíbrio orçamentário e no ritmo das cie papol-mocda, omitindo deixando cm plano secundário, o papel relevante representado pela imposição de tributos e pelo nível dos salários.
portanto, na determinação Em reemissões ou prestaçao dc serviço suplementar provo- ■ ca ratalmcnte a ●depreciação da moeda i Mm que é pago o trabalhador - o que é uma evidência aritméüca que não de- ^ manda demonstração — todos sos de
Sendo o nível dos salários um “fator-
Bcssièrc, sercorrespondido com
nao os procesexpansao tributária, quando não seguidos de um aumento dos serviços pubUcos oferecidos aos contribuintes, levam à desvalorização da mesma moeda arrecadada pelo Estado.
Vemos, por conseguinte, como o desenvolvmrcnlo da atual conjuntura, nor motivos de ordem política liiais do que pròpriamente econômica, conduz dobradamente à perda do poder aquisitivo das de todo moedas o mundo J Sòmente í . nos países em que o progresso técnico oferece maior efi-'
1 í^iGiíüTo Econômico ,105
ciência à produção, inclusive à produ ção de serviços públicos — e os Estados Unidos são o mais tipico exemplo — a moeda íica preservada parcialmenle, mantendo seu poder de compra ou, no mínimo, sofrendo ilina depreciação len ta e bastante atenuada.
Ora, essa ação d(; tesoura, realizada pela constante elevação dos dos impostos, apresenta mu outro efeito interessante, dos lucros.
salários e que é a redução paulatina
segurança de seu negócio, hoje oferecida pelas inslituiç-ões sociais como uma condição natural, que “i;« .suu.s dirc”, era então de sua <'xclusiva resjx)nsabilidadc. Em eoinpiiisação, toda remuneração recel)ida podia ser eonsiderada seu “lucro”, Que preço <lc custo teriu o célebre prato de lentilhas de Jacó? Talvez, únicaniente o tral)alh() de as colher c preparar.
t mo jsso ocorre nos tempos modernos. No sistema econômico que prevalece no
Á
E ó fácil compreender co
mundo ocidental, onde se realiza ou menos livremente a competição, tendência dos lucros ó no sentido de duzirem-se ao minimo necessário sobrevivência dos tão foi objeto de cm 1944

mais rcpara a Essa quesque cscrevi
Eiitri tanto, foi vendido a Esaú j)elo valor total da primogenilura, que então teria sido o “Kicro".
ScTia ilegitimo ?
■'Ainda hoje é muito fácil lizar tal conceito de lucro. Uin operário qualquer, dos mais mo destos, pode scr perfeitamente comparado a uma “empresa":
Nesse trabalho, tentei demonstr o lucro
negócios. uma tese ar que
f
t \ primitiva, , , , como 100% do valor da produção, visto como não ha via outras despesas para o produtor i lado — tende a reduzir-se tendência-limite é devida i
que, na economia podia ser considerado isoa zero-. Essa í
êle recebe seu salário, qiic é seu rendimento bruto; paga aluguel, armazém, tran.sporles, vc.stuário. impostos ete.; isto é, todas as des pesas de seu “negócio”. A sobra (se houver, ó claro. . . ) é o lu cro de sua firma particular. Êsse operário lilpotético existe realmcnle, entretanto;
rcae tanto pode plono I I 1
viver em Nova York, no regime capitalista e individualis ta, como cm Moscou, no regime comunista e coletivista. A o/«cr-
imcasos.
“Na economia primitiva, o luse confundia perfeitamente com o valor das utilidades, como não havia
“Com a evolução da sociedade, o homem se utilizou do tra])alho alheio em seus’ empreendimentos. Mesmo, porém, nos sistemas nóinicos eni ecoque SC empregavam
cro visto o assalariado escravos, estes não produziam gratuitamente, visto que eram ulimentados, vestidos e abrigados custa do dono, proprietário ou
,
nem o proprietário, nem o Esta do. Ou melhor o empreende dor era simultaneamente traba lhador, proprietária o polícia. A empresário.
“Ao mesmo passo que na pro-
JÊÊ
rDlCICSTO 1‘>;()N(').MU f? im
oação prevalece em ambos Oí
<«c ● publicada na revista Serv^t, Social” n.« 33 <lc junho claquclc ano: - A origem e o destino do lucro”
^ justamente ao constante acréscimo do salário c do i pôsto na composição do preço da pro dução. Quanto mais civilizada, a socie dade se torna mais estável e a sua eco nomia, garantida por previsões isentas de .surpresas, não apresenta riscos. Veiamos o que escrevia em 1944-
clnção econômica eram empregadf)s* maior número de trabalhado res. a instituição do Estado, com suas IcMS reguladoras da.s discipli¬ nas das relações sociais, foi to mando forma c sc descn\’olvendo, entrando a participar progressivanuMilc do “lucro”, mediante ta xas c impostos cobrados dos emprccmlimcntos.
“E’ fácil \‘cr, portanto, que o do t“inprcendodor, que inicialmcnlc correspondia na \x*rdaílc a 100 % do valor das coisas e totalmcnte lhe cabia — joÍ scnclo dividido com seus novos “associa dos”, pelo desmembramento da parto intitulada “salário” c “iniAliás í) imposto, deno-
maior número de indivíduos. Se é as sim, certamcnte resultará uma situação de maior segurança c estabilidade para todos, com redução dos riscos dos em preendimentos, que poderão ser mais fàeilmentc planejados e realizados com o mínimo de eventualidades. No estágio final des.sa civilização, o lucro será re duzido ao mínimo, sem prejudicar o processo econômico c seu desenvolvi mento ati\o.
ucro pòsto”.
minado por Gusta\'e Bessièrc “o dos serviço.s do Estado”, preço poderia perfeitamente ser consi derado o “salário” do Estado. tf
●Ao contrário do que previu o arguto Karl Marx, o Charles Darwin da evolu ção da Economia Social, o lucro se dis persará ao invés de concentrar-se em poucas mãos; parte dèsse lucro, hoje des tinado aos capitaüstas e empreendedo res, será transformado cm salários, in clusive dos que detêm a direção dos em preendimentos; outra parte considerável sofrerá a transmutação em impostos, dando ao Estado uma participação mais larga, .sem que isso implique em socialiução das empresas. 7.

A observação dessa evolução a longo clarainentc a tendência pa- Ninguém que tenha um pouco de miolos dentro do crânio deixará de con cordar com a afirmação de que o custo
prazo mostra ra o cisalbamento do lucro, bipartido pe los participantes da produção económiconstante progressão: — o ope rário, mediante o salário; c o Estado, através do imposto. Representada gràessa tendência secular pode
ca, om ficamento,
da vida e o poder aquisitivo da moeda, qualquer parte do mundo, inclusive na U. R. S. S. são direta e imediata mente determinados pela ação simultâ nea e correlata do nível dos salários e do.s impostos, falôre.s finais e decisims que poderão tomar-se verdadeiros gravames se não oferecerem uma honesta contrapartida de serviços equivalentes a seu custo.
em ^ ^ scr vista como tres triângulos justapos tos, formando tmi retângulo alongado. O triângulo isócelcs do centro seria a representação do lucro decrescente, en quanto que os dois triângulos retângu los adjacentes externos mostrariam a pro gressão inversa, da participação cada vez maior do salário e do imposto na com posição do valor das coisas produzidas. A Civilização, como é compreendida mundo ocidental cristão, pode ser definida como um processo dinâmico de melhoria da distribuição da riqueza, dos conhecimentos e dos \'alores morais por
no
Se um de saláriosobjeto custa uma certa soma e outra de impostos para ser produzido e colocado à disposição do consumidor — o número de unidades de moeda que indica o seu preço total torna-se evidentemente uma função desses custos parcelados. Quando afirmo que um lápis custa Cr$2,00, estou também
])ir:K.sTO Ec:onómico lOT
declarando que ^ cruzeiro é da ordem de í* lápis...
poder aquisitivo” do (i mente dentro de ul^um tempo, reduzindo-se s\ estatura de lambaris inofensi-
Eis verdades simples que, contudo, vos... Enquanto isso. o operário e o

^ pedem repetição constante, para que pe-' Estado engrossarão formidàvelmente ^ netrem e se fi-xem nas mentes popula- siais (jiiinhões de participantes, à custa ^. res, em geral mais preocupadas com os do lucro reduzido, da produção cconóí efeitos superficiais c exteriores dos fenô- mica. E o mundo será mais feliz asJ menos econômicos do que com a sua sim?. É provável, desde que todos ft' se compenetrem de seu papel, tornado J- Tranquihzcm-se pois os demagogos e bom claro o preceito de ética cconómíco, 7. exploradores da opiniao pública inoccn- pdo ciual tòda remuneração deve corW te: - o futuro da economia é promissor responder a um serviço prestado... Há para os assalariados e para o Estado; o crimes sociais q„c não figuram no C6Wo está em fase minguante.., Os digo Penal. Gani,ar sem produzir é tubarões dc hoje se atrofiarão sensível- ddes.
um
Dicksto Econômico lOS
f;
o S.V
r I I (■ I ?' ■ y. 4 i'r j r,; f
AGRICULTURA E A TÉCNICA^

J.
Testa
(Clicfe dc Estatística e Publicidade da S. S. C.)
T ONCE vão os tempos em que .para
^ ser agricultor, principalinente la\Tador de pequenas posses ou assalariado, bastava apenas ter bons músculos, há bito com o serviço duro da terra, rosto curtido de sol, frugalidade alimentar e poucas exigências quanto a confôrto... Cultura técnica era dispensável, ou pelo assim sc julgava. Nem mesmo sa- monos
ber ler... E inteligência, então, ou capa cidade mental, seria um luxo! A cousa vinha vindo assim desde os mais recuaisso acontecia, aliás, com dos tempos tôdas as profissões conservadoras, prinrelativas ao comércio e u
agricultairn. O homem que possuía havere.s tinha quase a obrigação de ser Seus bens, êle os adquirira por ocioso, herança ou conquista. E às vezes mesárduo trabalho. Mas este era repudiado quando o indivíduo chegava ' ■ O trabalho era
nas uu
tndinas. Na Europa e nos Estados Unidos já se vem compreendendo dêsse modo o problema e os lavradores,longe de serem p:irias analfabetos ou felás seminus são gente especializada, que trabalha com li\Tos e tratores, possui bibliotecas e ocasiões dc dificuldades, como aconte ceu agora no Velho Mundo, está não somente mais li\Te dos cataclismos po líticos como mais a coberto da fome.. Nos Estados Unidos, ainda agora, os maiores benefícios da manutenção dos preços e da estabilidade nacional são feridos pelos lavradores.
^ ram para a gente dc condição escrava.
pelo mo poder e a riqueza,
c cípalmente ns Essa melhoria intelectual e essa espe cialização da classe rural têm uma dupla origem: primeiramente, o fato de que os níveis gerais de cultura se expandi, atingindo todos os setores humanos e não se compreendería, pois, ficassem sòmònte os homens do campo dela ex-^ cluidos indefinidamentej em segundo lu gar, o empobrecimento dos solos, alte-i rações climáticas, exigências alimentares Cada vez maiores, afastamento das áreas agricultáveis, tudo isso forçou a adoção dc processos mais e mais aperfeiçoados de Ia\'rar a terra e de criar os rebanhos.
ão cio o a do atividades realizadas principalmente urbanos, seus profissionais e refinaram o padrão de vida especializaram-se, tornaram-se técSó a agricultura permaneceu, ; em certos a índia e o nas condições de
Com o decorrer dos tempos, o comérindústria se especializaram. Sen¬
nos centros melhoraram nicos. principalmente países como Egito, " um pariatü.
-TT
dia, e cada vez r\ '
X
complexa e mais técnica as atividades ci- do que
● I
r
1
O lavTador, hoje em mais, precisa ser uni homem afoito ao^ convívio dos livros, capa-J citado a extrair dêlcs as^| indispensáveis noções re-^| lativas ao estudo dos so los, dos cliimís, dos adu bos, dos tratos culmnus,« cia genética, da parasito-^H logia, etc. Principalmente ■ ■ gricultor independen-* -
ao a assalariado, iodis- te, não
Hoje em dia, no entan to, a agricultura também se especializou, e tende a se tomar mais mesmo
pensáveis se tomam conhecimentos nuiito amplos e qne não clcvcni sc;r adstritos a nma só cspecialiTação. Como assala^ ríado, numa grande fazenda, êle jX)dc especializar-se oin tratorização, xertia, apícultura. piscicultura, etc. também pode <● deve acontecer nos ses coletívizados situado.s detrás da iiruj de ferro, onde não existem agricul tores individuais e o único fazendeiro é <) Estado, fjue contrata como
ou enIsso pairoremprega-
imNnma
● dos os antigos lavradores, admitindo t; . bém os especialistas que de.seje. ” propriedade individual. i.sso não aennteseu dirigente ' <lia, conhecer bem teórica
|●spírito fazetalas dotadas d<“
o número cada vez maior de curvas dc nivel, t<-rraceameiitos. irriiíação artificial, plan tio em faixas, mec-anizjição. prepar.u.ão dos adubos orgâni cos comj)ostos, a rotação das Cíiltiiras, emprego il«- semenli‘s selecionadas e ou tras práticas dèssc teor, cada
As análises do st)lo. ; o \'ez mais Se generali/am. fá se anuncia C|ue nossa Drodticão de trigo atingirá neste fiOO.OOO toneladas ano a cerca de quarenta E as sementes de trigo, selecionadas dentro de nossas fronteiras por técnicos nacáonais do sendo
por cento do consumo nacional. nossas
cc, e o precisa, hoje; numerosos assuntos, cm e pràticamonte -
mais elevado mérito, vêm proctiradas até por países Iradicio
naliiK-nte plantadores de trigo. Relati vamente ao algodão e à cana-de-açúcar,
licros. Isso
ciência.
O mesmo se experimentado, ao café. e agrônomos, experiências, que duraram muito tempo e cu.staram muito dinheiro, não podendo ser realizadas por um particular qualquer.
pode dizer com relação
os progressos alcançados não são meno res, liavc‘ndo fazendas ahsolutamcnte ra cionalizadas, onde tudo é científico c a produção atinge um alto grau de efi, - e na terra, e não nos e até certo ponto verdadeiro mas cumpre notar que o que está no.s ; livros foi primeiramente na pratica, pelo.s técnicos às vezes em exaustivas f
6('
culares, do mais alto nível,
O que SC fèz no domínio do combate à broca, na seleção de varieda des altamente produtivas, nos sistemas de plantio, adubação, proteção do cnfeeiro e outros processo.s de boa técni ca, muito recomenda os nossos institulguns dos nossos experi mentadores particulares.
tos oficiais e a
Outra indicaç e se nota o crescimento cada vez maior de dadeira tílite de experimentadores parti culares, fazendeiros ou sitiantes de boa cultura e sadia mentalidade.
ão dôsse progresso técni co da agricultura se encontra no einprêgo cada vez mais generalizado de udu.; bos c inseticidas. Culcula-se que só eni S. Paulo tenham sido aplicados no ano agrícola de 1951-52 cerca de 35.000 to neladas de inseticidas, contra apenas 15.000 no ano anterior. Quanto aos adu bos, sua importação foi em 1951-52 de 250.000 toneladas, contra 65.000 no peConstitui um índice dêsse estado de
uma ver-

F 110 Dicicsto Econômico
Naturalmente, i êsse estágio. ainda não chegamos a iD -1 «eral presunçao, no Brasd, de que o técnico é mais ou menos desnecessário. Ouvem-se cons tantemente afirmações de cultura se aprende é íRic a ogrí-
( !
Felizmonte, a mentalidade brasileira está evoluindo notàvelmente, nos últimos tempos, principalmente no Estado dc São Paulo e no do Rio Grande do Sul, onde grande é o número de instituições cientificas, governamentais e de parti-
riodo anl(-‘rior. Por outro lado, sabe-se (jiie é con.sidcráv<-l a importação de tra tores e implementos agrícolas. A pu blicação dc li\Tos, estudos c revistas es pecializadas tem-se descn\’olvido, tamÍ)ém, consideràvelmente.
Tudo indica, pois, cjuc estamos en trando iia era da técnica agrícola. Cum¬
pre a cada lavrador, grande ou pequeno, procurar assenliorear-se dos no\’OS pro¬ cessos que a química, a física, a biolo- ● gia, llie põem ao alcance. A época da ^ rotina e da improvisação, do “fazer,.eo- ■! já pertence ao mo o meu avò fazia”, passado.

Econômico Dhík.sto 111 V;
.1
Luiz CLvniA IX) Phado
(Da Escolíi Politécnica dc São Paulo)
princípios de 1926, João Pandiá J ^ Calógeras fizera na Sociedade Brasi' leira de Estudos Econômicos uma confe^ rência sôbre os "Aspectos da Economia ● Nacional”. O conhecimento exato dos í. dados dos respectivos problemas e a justeza das apreciações revelaram que ^ Calógeras continuava i estudioso infatigável cam a ser o

Por , tanto.s e tão variados
pos do saber já havia perlustrado.
isso o Grêmio Politécni mente promovia. to, que anual-
m rencias de culhira dedicadas sobretudo à ff mocidade acadêmica o à classe dos en● genheiros, resolvera pedir-lhe colaborak çao nesse sentido.
Foi quando tive a honra de p conhecer pcssoalmente êsse hou. mem extraordinário. Em com■■ panhia de Antônio Gontijo de ». Carvalho, fui levar-lhe o pediJ , do do Grêmio Politécnico, sur^ pleno traba¬ lho no escritório técnico das inf, dústrias Conac, em São Bemardo. Acedendo ^ em lese ao con-
● - vite, Calógeras perguntou Jr tema deveria ser abordado; 5 gerí-lhe que fôsse alguma ’
f-:
&
as-
que sucousa as minas recaiu na teoria de Wegener sôbre a formação dos continentes, sunto fora do programa oficial de ensino da Escola Politécnica r
finalidade dum curso dc aperfeiçoamen* to cultural. Inicdiatamente Calógeras nos deu mna idéia dc como poderia desen\olver a matéria, mostrando assim ter pronta dc memória a tese do professor de Hamburgo, tal como a lera na sua terceira edição, publicada cm 1922. Antes do nos retirarmos, Calógeras teve a amabilidade dc acompanliar-nos em minuciosa visita à fábrica, o que constituiu para mim oportunidade de apreciar, ao vivo, mais de um aspecto da riqueza cultural da sua grande inte ligência. Percorremos, durante cerca de duas horas, todas as dependências. Ca lógeras conhecia profundamente a indústria de fios para con dução de eletricidade, desde o preparo das matérias-primas (cobre, borracha, etc.), até função dos menores órgãos das máquinas dc fabrico. As e.'plicações que dava a propósito de várias fases da produção eram fluentes, atestando n se gurança com que podia dis correr sôbre o assunto; mas eram sobretudo despretensiosas, apesar de a cada pa.sso envxalverem questões que só mcsnio um especialista podia esmiuçar. Mais de uma vez, no decurso da visita, houve trocas de idéias com os técnicos que con trolavam o. serviço e entre os quais se incluíam alguns ale mães; com êstes os diálogos eram travados em alemão, quo
'●
[*
^
P; em tôrno da especialidade cm que êle se mostrara tão profun- ' do no seu livro sôbre do Brasil. E a escolha
e que se enquadrava bem na
Calógeras falava com a mesnui fluôiiciu (jue a língua materna.

!>.●/. dias depois vinha èle Süu
Paulo para realizar a conferência pedida: «●ni pouco mais de uma semana, intervalos dc dentro da fábrica, havia coligido elemen tos c redigido uma síntese magistral da teoria de Wegencr, rica dc comentários originais .sòbre a interpretação dc fatos geológicos cientista germ:'inico. assunto exigia de mapa.s, diagramas e figuras; o pró prio Calógoras havia ditado e fiscalizado sua execução cm telas murais.
nos suas ocupações forçadas brasileiros não citados pelo A explanação do também grande número uiai.s variadas escolas superiores. nossas
A sua eonferèueiü, sem embargo, do cumentou uma face não menos adnürávol de sua personalidade. Na m.inciru de re.sumir as idéias precursoras das dc \\’egener, de e.vpor os seus argumentos, do desenvolver a sua tese, de criticar as übjevões contrapostas, mostrou-se èle um c.^ícrupulüso pest|uisador da verdade. tr.\haliío então apresentado não é um resumo ligeiro de um homem simples mente inteligente que sabe ferir os pon tos essenciais duma questão; êle põe om relèvp o pensador honesto que conduz u discussão até o limite
0 em que a ver
dade transparece com margem suficiente do evidência.
Não cabe u mim perfilar a persona lidade dêste homem admirável sòbre quem tantos outros biógrafos mais autoriz:idüs já têm prestado depoimento. Não obstante, repassando os ecos de sua e.xistência que até mim dirctamente chegaram, ][>osso finalizar estas reminisrepresentantes dc outras profissões libe- ● eências acentuando o invocado traço dc alista.s, militares, estudantes. Vi- seu perfil — o pensador fielmente enaconfercncista que era, dissertou morado da verdade^ rais, jorn goroso durante cêrea de duas horas sobre tema combinado, empolgando indistintamente todo aquôle auditório com uma substanciosa lição, publicada depois em quase cincoenta páginas da “Revista Politécnica”.
A conferência foi proferida aos 8 de aljril, no maior anfiteatro da Escola Po litécnica, perante uma assistência notávelnicnte superior à capacidade normal do salão e composta de elementos das classes: professores dc engenheiros,
O .signatário destas reminiscências tão pre.sidentc do Grêmio Politécnico, lionra dc naquela reunião saudar Calógeras “como um exemplo de fc e Eram estas as duas vir-
o Porque foi êste o traço que mais pronunciou no último período de .sua vida. Os que o conheceram de perto podem dar testemunho do anseio com qúe aquele espírito formidável se pro pôs intentar a posse do absoluto. Era por certo bem digno dêsto prêmio .quem, como êle, homem exemplar sob todos o.s pontos dc vista, heróico preceito de Platão: alma inteira da Verdade”,
, enteve a dc trabalho”, tudes que nele mais haviam impressiona do a mocidade acadêmica; Calógeras, obras e sua vida pública, ti- pclas suas nha-se feito estimar e admirar, entre os estudantes sobretudo, como um crente possibilidade dum futuro melhor para o nosso meio e como um perseverante trabalhador pelo seu advento.
se nunca se afastara do É com a que se deve ir em busca na
na
Sem relegar as questões que liaviam sido as prediletas, em época anterior, sua vida, Calógoras concentrou mu dia suas idéias no problema dos desti nos Irumanos. E, ainda cm pleno \ igor espiritual, pôde enfim decifrar o enigma mullinúlenário com a chave do Catoli-
DiCESTO EcONÓ^ÍlCO lis
físmo, religião íjuc professou durante os liltímos sctc anos com sinceridade e desassombro.
No epílogo de sua carreira dc pensa dor, êle, que problemas tão difíceis c tão desencontrados agitara, encontrou dôsse modo a paz conforladora c Inmi-

em
Aquèle que prati\crdadc caminha ao encontro da
nosa na (jiial exalou o seu incomparáv^d espírito. E assim parece ter-se realizado, relação a Calógeras, a palavra prof«''tica do Evangelho, que ()le conscien temente abraçara: ea a Ln/" (joúo. III. 21).
1^ ErnN«’nn<
| U í I I r I j 'I k t / ? e «I i.
Síntese da história econômica do Brasil :
Atilo proferida m(j lusiituto de Economia ‘^Gastão Vidiaal
I\oiJEUTo'Pinto dk Souza
^^oNCKNTHAn ([imtro séculos o meio em cincjuenla minutos é turefa impos sível, a menos que se restrinja ao que hú dc mais geral, de mais característico. É o que procuraremos fazer e contamos com hcnevolcncia dos senhores.
lonizavao da América constituem apenas um dos capítulos, e de não maior im portância, talvez, no primeiro século da no\a era.
O comércio medieval
era
cia.
A de.scohcrta e o colonização Dc um modo geral podemos dividir c comércio medieval em dois pólos — c O de.scobrimeiito e a colonização da do Mediterrâneo e o do Mar do Norte. ; América, \’ísto.s cm plano geral e situa- A ligação entre estes dois extremos dos no terreno econômico, sc originam efetivada pelas rotas comerciai.s terres‘ de empreendimentos comerciais le\ ado5 a tres. Portanto, o intercâmbio internacioefeito pelo.s nax egadores de vários paí- ; ,nal de mercadorias se fazia por dois censes c da política c.xpansionista dos go- tros: um ao sul, representado por Gènovernos de certas nações, que, por seu \a e Veneza, outro, ao norte, pelas citurno, derivam do desenvolvimento do dades flamengas e a Liga Hanseátíca. comércio continental europeu, que, sen- Èstes pontos se articulavam por dois cado até o século XIV apenas terrestre, se ● minlios, conforme o centro de procedên' projeta a partir daquela centiiria para a iniciando o ciclo das

costa marítima, grandes navegaçõe.s.
A mudança operada nas rotas comer ciais detemiinou acentuada alteração no geral econômico do ocidente. sistema
inaugurando o que sc convencionou cha mar de “Revolução Comercial”, a qual se traduziu por uma enorme ambição de enriquecimento dos povos mais adian tados, levando-os à conquista de novos territórios; à expansão para terras des conhecidas, a luta e guerras econômicas, umas abertas, declaradas, outras nos bastidores, disfarçadas, como as de D. João III com a França, e as iniuneras cartas dc corso concedidas pelos reis inI glôses e franceses ; enfim, por um semnúmero de acontecimentos, fatos e aci dentes dos quais o descobrimento e co-
Assim, Veneza utilizava-se da es trada interior que ligava ao norte da Europa, através do passo do Brenner, a antiga porta pela qual os bárbaros ha viam invadido a Itália. Além de Innsbruck, os vam pela Basiléia e daí, pelo Reno. Mar do Norte e à Inglaterra, ou, se guindo outra orientação, a Ausgsburgo e desta a Nurembergue, a Lcipzig, às ci dades do Báltico e a Nisby, na Ilha da Gotlãndia, as quais supriam por sua vez j o Báltico setentrional e mantinham
carregamentos se encaminhaao ■
antigo centro mercantil da
transações diretas com a república dc Novgorod, Riissia.
Gênova, não possuindo nenhuma pas sagem pelos Alpes, transportava as sua.s mercadorias por água até Maiselha, donde eram reembarcadas para as cida-
des do Ródano. que. por sen turno, abasteciam os mercados da França <K*idental c setentrional.
Todo o comércio se fa?Ja por éslcs caiinnhos medievais, fjue iam criando cr-ntros ^e grande importância na Europa Central e desínnpenhando grandes fun ções, não só econômicas como políticas, o que veiü a dar hegemonia às cida<lcs italianas, à.s do Haltico e mar do Nf>rti' e ao centro oiiropf;ii .
dí‘ iiu’<licval. Toi esta transfonnaçâo cjm’ ni.ircou o inicio dos tcmjííis niodemns.
()ambiente pnriii^ués
Fnípianto èstes acontecimentos se pro(■«‘.ssavam no ocidente. Fortuga! sofria uma profunda transformação na sna {M)lítica interna. Esta. <jue até então liavia sid(j orientada pela nohrezn, grande proprietária de terras, passou a ser diri gida, com a revolução vitorio.sa de 1385. pelos armadores i- comerciantes, integra dos no <●spírilo mercantilista (|uo pcqj.is-
Ay novas rotas marítimas sava por lôda a Europa.
No século XV, d<-vido a uma vor<lana arte d<; navegar e perigos e insegurança c|ue apresen tavam as vias centrais, além das inúme: ra.s barreiras alfandegárias (jue
aos eneari:p ciam enormemente as mercado rias, deslocou-su o comércio do trajeto terrestre paru o marítimo, assumindo imixirtàneia, então, ;i lí ■ marítima, que mudou ■ |3 sim
í ISa hegemonia cio centro a periferia atlântica. Outras
1^. çcâes ha\eriam do surgir e raptar ; IxmdcTància mercantil. Estas ;
[■►■●a
^ue us as novas funcom o progresso
rj, navegar. Inglaterra. IIol da, Normandia, Bretanha Ibérica .seriam a.s do navegação.
n
1’orlugal, com èsli; iio\’o espirito tra zido pelo Mestre de .A\iz, vitorioso da revolução contra loáo de Custeia, einpieende a sua e.xpansão econômica e marítima. Contudo, impossibi litado de lançar-sü na nova rota comercial, epie so abrira láo propícia aos países da orla ocràPw nica, devido ao domínio (|iic ne la e.verciam as nações mais avan çadas, atira-se para a costa da .\frica, para o sul ainda não e.splorado, para o caminho do fabnlo.so Oriente, e a coiK|uista dc Conta, em 1415, marca o início da jornada Africana o da orn dos (híseohrimontos.

an-
G a penín.sula pioneiras deste ciclo
O ambiente europeu
O de.sIocumento da terrestre para a marítima não importou apenas numa simples mudança da na-
●: tureza de transporte. Foi uma verda; deira revolução não só nos hábitos
I- , merciais. na atitude e no comportamento das nações, como também nas idéias
^ políticas e morais concernentes à riqueH za e à maneira de obtê-la. Verificou uma profunda alteração em tôda
rota comercial ●'●-V co-sc a es trutura material e ideológica da .socieda-
Estimulados pelos êxitos portngaèsos. os dcmai.s países da Europa sc lançam ao de.scobrimento da nova rota para o Oriente, qiio lhes alargará o iiorizoütc jjclo oceano afora. Nenhum quer ficar atrás nesta corrida desenfreada pelas ri quezas, nesta luta pela posse dos ele mentos que haviam de dar a supremacia comercial. Navegantes franceses,, inglôses, espanhóis, holandeses, dinamar queses cruzam o Atlântico em todas ,as direções, a fim de descobrir o caminho
l>U.K>lt) K Utí
deira revolução : para naa pre●siTium a .
.s condições geográficas mais favo■ reciam para desempcnliar ções náuticas, abertas da arte de
da índia, o “abre-tc Sésamo” da fortuna limites. Colombo topa a .América, barreira intransixDnível qiic fceba caminbo do Oriente pelo Ocidente. .Ma.s Balboa a\-ista o Pacífico. Deve haviT uma pas.sagcm. Na procura dela se ipcnliam o.s povo.s na\egadores. fase da exploração do litoral americano. Para o
sem o É a en Sul. vai t(T Sólis até o Rio da Para o norte, os irmãos Côrte Prata.
Real báo dc* atingir o Labrador. Maga lhães, afinal, descobre a passagem cpic se rc\’clará imprestável para o comércio. Todos èsses acontecimentos, enfim, cs() simtido comercial dos em- clarocem dimentos marítimos. Não tem ou- preen Iro caráter a exploração da costa africaroteiro das índias, a descoberta da “Tudo que se passa são inci da imensa omprésa comercial a dedicam os países da Europa a do século XV”, como muito bem
na, (J .América. dc-ntes tpic se partir cli7. Caio Prado Júnior.
A icléio européia dc colonização
A idéia de colonizar, como a cntt‘ndomos hoje, não ocorreu iniciálmente a nenhum dos povos empenhados no momarítimo e comercial. O que vimento o.s interessa, são as mercadorias que po dem obter das paragens longínquas, para vender no mercado europeu, ávido dc exóticos. Daí o relativo des- produtos prezo pelo território americano, inóspidc população rala e primitiva e onde encontravam mercadorias já prontas negociadas nos centros euroe, inversamente, o prestígio do
licado no Mediterrâneo e a Liga ilaustíAtica no Báltico, isto é, as feitorias coinercims, centro de negócios com os po\os estranhos. Por esse motivo, atingi da a .-Vfrica, os portugueses vão estabele cer as sua.s feitorias, seguindo igual ex periência <juando alcançaram a índia. Descoberta a América, não poderíam agir de outra maneira: estabeleceram as feitorias e principiaram a negociar tnam o que havia no momento — os pro dutos e.xlrativos. Daí carre;u-em para a Europa madeiras do construção o tintorias do Brasil. Para conseguir outras mercadorias no No\-o Mundo, seria ne cessário tomarem-se produtores das mes mas. Isto implicava em se fixar na terla primitiva c organizar a produção. Foi o que fizeram mais tarde, mas foram os pioneiros e revolucionaram o sistema co lonizador, como ora entendido então. .\lcsmo a.ssim isso levou algum tempo e foi preciso que se desiludissem das espe ciarias indianas para vir procurar rique zas neste nosso continente. Naquele período histórico, essa idéia não havia ainda ocorrido aos portugueses e, como os demais povos, iniciaram os seus negó cios na torra de Vera Cruz com as mer cadorias que encontram — o pau-brasil
Ciclo do poii-brasil

to.
nao para serem pciis ; Oriente, onde não faltavam produtos paatividades mercantis: cravo, pimen- ra as ta, especiarias, marfim, seda, etc.
fonna tradicional, que sua
Numa época em que não se conhe ciam as anilínas artificiais, o pau-brasil apresentiu a real interesse para o comér cio europeu, tomando-se logo mercado ria de fácil colocação e a preço remunerador.
Facilitou sobremaneira a tarefa a dis tribuição geográfica do produto, pois a área da \'cgetação se limila%'a principal mente à orla marítima, que se estendia do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte, com exclusão da Bahia. A explo ração, porém, se concentrou em Pemam-
l\CONt')NH< Í, nif.fVH*
Dessa forma, a idéia de colonização se prendia à vinha desde os fenícios e que, em épo ca mais recente, os italianos haviam praI
.suas
, l«icíj, dí M.*jii|Hnliaiido a su.» costa c .js nwtas papel dccisi\o no primeiro ciclo econômico da nossa história.
As florestas da Paraíba c do Itio Ciran^1<‘ do Norte eram também ricas dessa «.●spéclo de madeira <● o p«^rlo de liiizios, no Rio Grande d(j Norte, ficou céh-hre Jia Ijístória do contral>andí) francês.
* Se bem fòsscmi estas plaga.s propriei dade da coroa lusitana, D. Manuc-1, ■ atraído pelas riqueziis cia índia, se de’ sinteressou de explorar o lenho vernu*j Iho, parco cie rendimentos cm face do.s ■ lucros do Oriente, pois os espunlióis, que ‘ t) iam buscar na América CJcntral, v. os I corsários franceses, cjuo o colhiam nas próprias costas brasileiras, moviam tenaz concorrência ao comércio português.
‘j Por êsse motivo, logcj após a chegada da primeira armada c.xploradora, E!-rci arrendou o'Brasil a um grupo cio cristãos ; no\os, à frente dos cpiais se encontrava
j Eernãü dc Noronha. Contudo, parece ! tcír existido também a liberdade cie co mércio, estabelecendo a coroa a obriga● toriedade de lhe conferir 1/5 das merI cadorias transportadas do Brasil.
Os lucros, parece, não foram muito i grandes, pelo menos os da coroa lusital na, pois 0 arrendamento, até 1532, foi c*stípuIado em 4.000 cruzados. ConverIfl tendo-se em cruzeiros atuais, alcança 54 l" milhões de cruzeiros aproximadamente.
la (obrii as dí-spesas. já i^randes na épo* < a. em \ irtude dos gastos com a defesa íia terra (k- \'era CJrnz. Nos tempos dos l‘'elip«-s. foi arremlatla a extração do pau t<-titorjal por cèrca de 8.(>í() mil cruzei ros (\alor total). Subiu um pouco na fase, final do domínio espanhol, cm rendi.i 10 tnilliôes de cruzeiros mais «im-

iiii menos.
Os arrendatários lorauí imiis felizes i|iu- os n-is de Portugal, .\valia-se cjue o resultado lí<{uido andava pela ordem 15*?' do \alor total. Portanto, para primeira fase, eiK‘ontranios uni lucro dc 32 milhões de cruzeiros.
ck-
as ca. 1<‘.
a 216 mi-
! É verdade que essa importância reprej] senta apenas 1/4 do valor do material 1^ corante extraído do Brasil. O total montou, nos 30 primeiros anos, Ihões de cruzeiros.
As outras fases do pavi-brasil, particulanncnte a segunda e a terceira, ainda continuaram a produzir resultados, polJi,Tc-m, inferiores aos dos primeiros 30 jí^anos. Assim, no reinado de D. João "If líl, a renda do pau-brasil não represen.jji tava 5% da receita portuguesa. A impor
rena mero imenso transformar todo o da época, mostrando que agora não estax a mais na fase simplesmente de co leta, mas se ia mais avante e se organiza\a um si.stoma do produção c de co lonização regular e efetivo do novo ter ritório dc além-mar.
se O
ciclo (Io açúcar
Muito contribuiu, para a nova fase cjiie vão assumir as relações ),Jolíticas c econômicas de Portugal com a sua co lônia, a desilusão da coroa lusitana com as riquezas da índia. É que a concor rência tremenda, movida pelos outros
Dicksto Econo:
tância recebida pela coroa não dava pa( t h
Na história econômica do nosso País, e«)nljido. o ciclo do pau-brasil não é de granch- importância. Marca apenas o início do contacto da gentc lusitana com terras do Novo Mundo. Êsse contaelc» foi aiucla feito nos moldes da épooii seja, com o estabelecimento de feitorias, localizadas nas costas, portan to, abertas para o mar, para u Metrópoe não para o interior, para as terras do Brasil.
O ciclo seguinte — a lavoura açuca— é que vai constituir o marco núum da ocupação definitiva deste tcTritório. Além disso, vai sistema colonizador
paíscs da Europa, nas rotos indianas e no comércio das r especiarias orientais, eliminou o lucro português, Iransformando-o não raro cm prejuízo. As nações européias, mais adiantadas c melhor or ganizadas comcTcialmcntc, podiam con trolar o mercado europeu de especia rias, colocando apenas acjuélcs gêneros (jue c^Ias iam Iniscar no Oriente com os seus na\ ios e sc) rc^coirendo às merca¬ dorias trazidas por Portugal quando as próprias não davam para atender à proDesta forma, Metrópole fica\a posta à margem das transações .SC realizavam
cura. cono interior incrciais qnc da Europa.
As cli\’crsidades das condiçõe.s natu rais do Brasil, em comparação com a Eu ropa, mostraram ser interessante tirar proveito destas terras, pois havia possibilidade de obter pro dutos tropicais exóticos, demais
que os países mercantes euro-
pens não podiam conseguir, a não scr por intermédio de Por tugal. Desta forma, a Metrópole goza ria do mc^nopólio e facilmente poderia negociar os produtos da colônia.
para o seu comércio os gêneros exóticos antes fornecidos só pela Lusitânia. Data daí a decadência do açúcar de Pernam buco, como o demonstrou o prof. -WIredo Ellis, agravada pelo surto da mi; neração. Volta novamente o predomínio português com o algodão, na segunda metade do século XVIII, e no final dèsle e início do XIX, com o açúcar, devi do às agitaçõe.s políticas e sociais que transformam a \ida das colônias inglè* .sas e francesas das Antillias, numa fase cm que as Metrópoles estavam sendo violontamente sacudidas pela Revolução Francesa c as guerra.s napolcônicas. '
O açúcar foi, de todos os produtos^ a Cotropicais
, o que mais rendeu para lônia c para a Metrópole, ao mesmo tempo que permitiu a ocupação e colonização definitiva do Bra sil. Nos cem anos que durou'( seu fastígio, não só organizei todo o sistema da sua
ção como, em volta dele, todas demais atividades econonii sociais e culturai.s da Co¬ as políticas. ca.s, lònta.
ro.s
A colonização veio mostrar quanto a idéia ora certa, pois a América tropical tornou-sc o centro fornecedor de gêncdc particular atrativo: o açúcar, a pimenta, o tabaco e, mais tarde, o anil, o arroz, o algodão c, recentemente, o café c outros produtos tropicais.
êxito
A situação política corroborou para o d(j empreendimento. Portugal luta.s
ocupa\'a uina posição neutra nas
contínuas que ,sc processavam no inte rior da Eiirojía, nos dois primeiros sécu los da colonização. Êste fato colocou Portugal como único foraecedor de pro dutos tropicais. Só no final do século
XVII esse privilégio vai ser atingido scriamente, pois a Inglaterra, França e Holanda organizam as Antilhas e obtêm
A grande lavoura das A cana-de-açúcar, proveniente do Atlântico, assentando-se no Braorganização peculiar de econômica - a grande la-'
ilha.s sil, criou uma exploração . voura escravocrata e nionocultora. Lstes característicos provieram de vários fatores, que, aliás, parecem ser comuns a toda exploração econômica da área tropical. No caso brasileiro se revest de aspectos particulares, decorrentes do condições especiais do Portugal da época. , -1
Portugal era um paí.s de fraca popu- 1 lação, necessitando êle mesmo de colo-^ nizar as suas teiTas, que jaziam em boa ■ jjarte despovoadas. Portanto, não esta- ^

119 JDicksto Econômico
i'. va em condições de sofrer sangrias, a fim de oferecer braços suficientes para o trabailio agrícola nu Colônia. de elementos humanos que sofreu A perda com
Por ésse inuti\o, ela se tomou grande,' pequena escala exjíloração pois iiúo p«Tniitia fazer face i\s despesos com a produção c aos gastos eom os tnmsp(jrles. I'ortaleceu ainda esse ponto a trenica th-fieic-iite. (jue exigiu uma pro dução extensiva, para se tomar pr6s-
us ar-
um sorverem as colônias. Quando s produtos destas entravam em crise sofriam tôf d" Metrópolé preS M dadetítnibem se fazem suas.
p<Tu.
em o ciclo da navegação, da colonização de 'suas possessões, da guerra da África, * com a fragorosa derrota de Alcacer- Quebir, e com a expulsão dos jude y ruinou o país, visto não ter podido êsb* organizar ínternamcnte um mercado <● sistema de produção capazes de ab--- os produtos das colônias e enriquecer-se. Por èsse motivo, ficou na * P^siçao de simples intermediário cnlr<^ as mercadorias de suas possessões c os ■ auropeus, espécie de entrepos¬ to comercal de su

Unia organização agrícola camponesa só foi jxjssivel na América do Norte, devido a imigrantes religiosos, que se transplantaram com tcklu a família c haxeres e lá organizaram um sistema dc produção em peipiena escala, para aten der às necc.ssidudes próprias e não para fornccçr produtos em larga escala aos inercadore.s europeus. O comércio nas ceu só mais tarde, quando o volume da produção cresceu do tal modo que, naturalmenle, se escoou para o e.xterior à procura de mercados.
f A escassez de mão-de-obra na Metrô pole, que a obrigou a utilizar em suas próprias fronteiras o braço escravo afriteano, não permitiu que o português r emigrasse para a colônia de além . para se assalariar como trabalhador
x'/ ^●^^gente, que trazia consigo cabedal y. ^ef‘C.ente para instalar o seu engenho
A mao-dc-obra arrebanhava na Llônii . os selvicolas, a princípio, e, mais tarde r/ o negro trazido da África.
A lavoura, nionocultora.
-mar ru-
por outro lado, se tomou porque as suas atividad
IA produção dc açúcar no Brasil se de.senvolvcu rapidamente. Por volta de 1570 já ha\'ia 60 engenhos, com uma produção de 180.000 arrobas. Em preendimento considerável para a época, dadas as dificuldades para a formaçáo dc engcnlios e O custo das obras e equi pamentos. Calcula-se que cada enge nho deveria ficar, de acôrdo com o seu tamanho, cm 40.a 60 mil cruzados. Ro berto Simonsen, fazendo a conversão do valor do cruzado para o mil-réis de 1935, calculou em 3 a 5 mil contos o custo do engenho. Da época de Siraonsen para a'atual houve pelo menos uma desvalorização da moeda de 50%. Por tanto, aos preços de hoje, os engenhos deveríam custar dc 5 a 8 mil contos es tiveram que se articular em tomo do
A quantia não re-
produto que oferecia maiores possibilidndes econômicas. Além disso, ^ cursos eram parcos e só se concentrancio na cultura mais lucrativa poderíam retirar resultados econômicos satisfi tórios.
os rei-
aproximadamente. presenta atualmente volume de capital muito grande, mas para o século X\'I a importância era fabulosa, principalmen te para Portugal, devido à escassez de capitais existente naquele período. Co- .
mo se sabe, a época da formação dosjÍ||M
120 Diowto Económio
>
k ● V
.●
r
I. .j»
granclos capitais estavn ainda no seu ini cio.
Só nos dois séculos posteriores os
países europeus conseguem formar granclc‘s \ oluines tle capitais.
ríodo eni que se iniciou a sua explora ção, o açúcar já apresentava sinais evi dentes da crise que O havería de atingir mais tarde. intensainente, alguns anos
No início cio século XVII, o número cie empré‘sas lunia crescido, apresentan do 120 engçnlios, cm 1602, com uma (Ic 2 milhões de arrobas. O de c-ngcnlms c o volume da pro dução continuarão a crescer durante to do o século, considerado a idade de ou ro do açúcar no Brasil. Os dados, pomuito contraditórios c dificil-
oxportaçi número lO rém
me çao. (pi scnbore.s
ras. Inglatcrra dispensaram ao , são ●nte pode clicgar-se a uma aproximallobcrlo Simonsen organizou um adrt) dc todas as estimativas. Se os se interessarem por conhecc-
Ias é interes.sante compuLsar o gráfico da'página 170 da 1.*'' edição. Para es clarecer os senhores, vamos Icr pequeno trecho da obra citada, a fim de terem sôbre o valor da exportação Pelo texto de Simonsen pouma noçao do açúcar, dem ver como os dados são incertos:

“Apesar das considerações que justia alta produção no século XVII, nesses gráficos de 50 % os números indicados no' quadro,
Por esse motivo, alguns liistoriadores atribuiram a decadência do ciclo açucaroiro às descobertas das fazidas aurífeHoje, não se admite mais essa hi pótese. Estudos posteriores vieram demonstrar que a decadência do açúcar se verificou devido à concorrência do pro duto francês c inglês fabricado nas Antillias e da proteção que a França e a açúcar das
su ouro se veA primeira rificou no rio
logo depois
^ de Goiás e Bahia, em bandeirantes paulistas que milhando o sertuo foram os
tieain reduzimos maiores ter encaminhado para„,e considerável de pessoas, fonnandoloeo atritos entre os paulistas e os adventistas, que terminaram ^r uma célebre, a dos Emboabas, na não levou a
limitando a 2.100.000 arrobas a máxiexportação. Considerando ainda que os preços aí registrados produzido e tras causas de possíveis erros, fizemos computo de nossas conclusões redução geral de 25 %. Chegamos, mesmo, a um valor, para os três
ina são para o melhor açúcar atendendo-se a várias oupara o lima assim
séculos do período colonial, superior a ●300 inilbõcs de libras e, para o século XVII de'cerca de 200 milhões de li bras não incluindo o açúcar produzido consumo local”. para o
O ciclo do ouro
O ouro vai constituir o terceiro ciclo da nossa história econômica. No pe-
as colônias. A \-ordadeira causa foram, portanto, as políticas comerciais desen volvidas pelas grandes nações européias, traçadas por Colbert, na França, e por Cromwcll, na Inglaterra, descoberta do das Velhas, seguindo-se dc Mato Grosso, em 1719, 1725. Os andavam pal-1 agentes da não tiraram ' virhide de se minas volu¬
a e a Infelizmcnto, descoberta, melhor proveito disso emas
se guerra
qual a gente bandeirante melhor, tendo que abandonar a nqueza ela descoberta aos elementos que por para lá foram. ^ _ , O “nish” criado pela atraçao do me tal precioso e, mais tarde, pelos ^larnantes, concentrou volume considerá\-el de população no território das a%ras, que de forma alguma estava preparado para receber tão grande volume de habitan tes. Por outro lado, os que para la lam. não tinham outra aü^adade que não a da extração do ouiu. Dessa maneim. surgiu enorme dificulda e para a ali-
1:21 Du,i:s'in Econômico
nientavúo. Mais lurílt- i*l.i \ai se ate nuar, pois os paulistas, afastados das mi nas, vão formar lavoura para abastcuT de jjêncT<»s aliincnlíc-ios a população íregu<- à i-.xploração do metal pr«-ci(jso. Surgf ciai a ^■slabi!i/-^ção da cultura <lo <iuro <● a fí)rmação das grand<-s c-idadcs . auríforas, como Vila Rica.
Outro grande obstáculo qtie os miiieradorcs tiveram <pio enfrentar forai perigos das viagens, por falta de estrada e <la Címtínua ameaça dos índios.
●Se para o açúcar a Metrópole desen\ol\eu esforços para ajudar o desenvolvimento da pro dução, para o ouro a ação da coroa só atrapalhou, pois se limitou a aplicar uma le gislação impositiva fortíssi ma e uma administração ar bitrária e dispendiosíssima. A jjreocupação única dos reis de Portugal era au3iientar o mais possível a arrecadação, ou melhor, carrear para a Metrópole <J maior volume possível. Daí ler reformado a antiga legislação de 1603, \ elaborada para o ouro de São Vicente, pelo Regimento dos Superintendentes, , Cuardas-mores e Oficiais Deputados Para As Minas de Ouro, de 1702. Tal ^ Regimento tinha por finalidade cstabclEleceT o registro e a distribuição das la vras e a arrecadação do quinto. A arrecadação deu muito que fazer. .. que os senhores façam idéia do ^ que se passou nesse terreno, vamos ler i um trecho em que Roberto Simonsen Y trata do assunto:
Para
:j' “Em 1700 foram enviados às minas os primeiros provedores para o recebimento ^ dos quintos. O governador Artur de Sá Menezes, em abril de 1701, proibia 'exportação de ouro, sem que se fizesse . a prova, por intermédio de uma guia, de haver sido satisfeito
Kin 1713, l.i/MT (la Silveira <jui,s c-on.slrnção das casa.s
a d( que imperava, oposição, Ie\antada pelos ac-ordou-se cm manter o o anuais.
Hui, registos, jias estradas do Rio, São 1’aulo, Baliia <● Pernambuco, govfrn.ulor D. Braz Balevar a efcUo fundição para «●\ itar a circulação do ouro em pó c ccr< i-ar dessa forma a fraude Km \irtmle da iniiieradores, regime de e.\por(açâo livre, mediante |>againeiito de uma finta de 30 arrôbüs Nao lendo a Coroa aprovado «'●sse .irranjo, lenlou-.so, em 1715, adotur imposto por bateia, base de 10 oitavas ou 35,86 gramas para cada uma; não eliegou èsse acôrdo a ser posto em execuçião, aquiesceiido, finulmentc, o govêrno portuguè.s, a finla, já estaixdccida. baixada essa finta a 25 arrobas.
Em 1719 voltou a insistir a Coroa sòbrc a ncce.ssidado da instalação do sas de fundição; rcno\ou-se a oposição dos mincrudores, que propuseram elevar a finta a 37 arròbas anuais. Mas, assim que o governador pode adquirir autori dade suficiente, fèz adotar as casas de fundição, <{uc começaram a funcionar em l.° de fevereiro- de 1725. Todo o ouro era levado a ésses estabelecimentos c, após u retirada dos quintos, era fun dido e re.stituída a respectiva barra jio proprietário, com a sua guia. Julgado excessivo o imposto e acentuando-se a fraude, foi êle, om 1730, reduzido 12 %. Em 1732, a Coroa quis substitui-lo pelo de capitação, isto é, um tanto por indivíduo que trabalhasse na mineração.
na om aprovar Em 1718 foi caa désse impôsto. Foram criados, para esse
Para evitar tal imposto, propuseram os mineiros voltar ao sistema da finta, elevando-a a 100 arrobas anuais. Fi nalmente, em 1735, Gomes Freire d« Andrade estabeleceu pela primeira vez o impôsto de capitação. Foi fixado em

ri22 OlfJEi.To KcONDMir
n
Íí'
eii-
os
a o pagamento
o
M
o
●1,75 oita\as ou 17 gramas por escravo: com menos dc Na base 'de recentes documen-
utiliznndo-sc dc máquinas apropriadas. Foi êsse, em síntese, o regime sôbrc o ouro no período colonial, em relação às Minas Gerais”.
\'cria rc has.
inineradoros.
grandes turmas 1 liariam
nasciclos nas minas, 1-1 anos. fic-ariam isentos. os lOü.ütK) cscra\ os, (juc tos proNiun terem trabalhado nas Minas Gcrai.s, no jicríodo dc maior efei^escêneia cia proeura dc ouro, esse imposto de,‘ncler à Coroa mais de 113 arrôDèl(“ SC quci.\-a\ am amargamente os Dc fato, quantas vezes de escravos não trabacompletamente idéia dessa

múteis?
circunstância, basta examinar coes brusca.s nos registros dos quintos c os meticulosos estudos procedidos por iá no início do século XlA. era profundatolerável nas
tornava-se proícidência
pesquisas SC ter uma cm Para as vanaEscbwege, )iO impósto dc capitaçao mente injusto, pois que, se /onas dc farta mincraçao, -ibitivo nas regiões pobres; a sua macarretaxa enorme desigualdareinado de D. Jose I, Coroa a receber os casas de fundição,
Em 1750, no do. \oltou novaincnte a barra nas mineradores o mínimo de (piintos cm irarantindo os JOO arrobas, que poderíam ser compendois anos suces.sivos.
sadas cm
Não foi mais alterado êsse sistema de cobrança ate o final da era colonial, se bem que, com a decadcncia das minas, se tivesse tomado por demais oneroso, a c.xigência do mínimo praticamente abandonada. E.n 1759 foram arrocadadas 116 arrobas. A partir de 1766 foi caindo a produção, rendendo o imposto 70 arrobas em 1777, 30 arrobas em 1819 o 2 em 1820. Em decreto reduzindo de então ficaram.
1808, 7 cm
1803 surgiu um etade os impostos, que adicional criado, à razão de 12 %.
Medida teórica, pois que, por dificulda des de tesouraria, não foi posta
em exe¬ cução.
Os dados sôbre o resultado total da autorizam uma conclusãp nuneraçao nao precisjx. As cifras que, se puderam obter dizem respeito ao volume de metal re cebido pelos arrecadadores da Metrópo le. Sabe-se, no entanto, que o contrahando de ouro foi muito grande no iní cio da exploração. O sistema arrecada dor só melhorou após 1720, quando então se tomou difícil a sonegação. Mesmo assim, acredita-se que houve muita fraude, não nas grandes lavras, mas nas catas menores. Como se sabe, u maioria do ouro brasileiro era de pro cedência aluvional. Estima-se que 85 % tinham essa origem. Isto permitia a exis tência de um número muito grande dc catadores individuais, pois isso não re queria capital nem trabalho especializa do, apenas arrôjo e paciência. As esti mativas que os historiadores fizeram da quantidade total dc ouro extraída ressen tem-se da deficiência do material dispo nível e, como êsse material é vário, deu margem a diversos cálculos. Assim Eschwege calculou um total de 63.417 ar robas para o período compreendido en tre 1600 c 1870. Segundo êsse perito, seriam 951.255 ton. Calógeras já avalia, para a fase 1700-1801, 983 toneladas: Os dois estabeleceram as suas estimati vas baseando-se em dados collúdos no País. No entanto, outros pesquisadores, tomando por base dados internacionais sobre o movimento do ouro, calcularai£| em cifra bem maior a produção colonial. O Barão de Huinboldt estabelece, para o período de 1500-1803, a importância dt| £ 194.000.000, enquanto o primeiro men cionado estimou em £ 130.000.000 e C segundo em £ 135.000.000. Roberto Si-v monsen acha que a cifra media entre asj
123 I)u;i;sTo Kconómico
e
m
Escliwege alcançou, em 1811, ((iie essa redução ficasse assegurada para emprê.sas que fizessem a mineração, as 1
^ es«-imativas apresentadas deve corrosponfi' der aproximadamente à realidade o ntriEv bul, dêsse total, 70 % ao ouro dc Minas ^ Gerais.
A princípio pensou-sc que o resultado econômico da mineração fora o do açúcar. Roberto Simonsen major <jue mostrou * que a suposição não era exata, pois en-
quanto o açúcar deu um resultado diVí 300 milhões de lil)ras, o do ouro não alcança 200 milhões. Náo fica só ni.sso a contribuição do aç,'.car: foi òle que penmtiu a formação de capitais no lirasii e deu inicio às de . , , grandes importações
lL-lí\
1 "^^«-de-obra africana, ejue haveria ■ / de proporcionar o elemento hum: ^‘'spen-savcl à tarefa imensa povoar o Brasil, ' para todos
mo innão só de como de fornecer braços empreendiment
os produti«çucareiro, apesar de todas ^ine passou neceu por tôda a história do ír os acontecimentos n mais contribuíram

OS vos. O centro i vicissitudos permaRrasil e para a e cul-
A mineração não foi desDrezív,.! , do açúcar
fdf„iTr'no°
t m. T i"’POrque durante algumas dezenas de J unos art.eulou tôdas as fòrgas drCoIÔ-
Por outro lado, permitiu o desem a u volv.mento da pecuária no sul. outro elemento de penetração do homem pe L terras urtenores do Brasil. Infclizmen e rrao fo. capaz de organizar, à sua vol a ■ um SjStema produtivo que subsistisse ’ H sei. dechmo. Isso em parte se deve à pobreza das terras que a circunvizinlmvam e em parte à rapidez da sua passagem. Em 70 anos ela estava esgotada.
- Além disso, a Metrópole, sequiosa de i.' dinheiro, não ajudou em nada; trárío, só a atrapalhou, elaborando
tante, ao ao conum
souorganizar uma proiiiais eficiente, deixando que os
sistema onerosíssimo de arrecadação de cjiiinlos c contrôlo das la\Tas. Não be também a Coroa <lu(,'ão cxploraíl(jrt.-s .seguissem a rotina dos mé todos emjjíriws, pcrdendo-sc com isso limito ouro.
Outra dc^corrOncia impor
tante- foi a tleslocação da força económido nort»; para o sul do País. Cessada a iniucr.ição, muitos dos elementos que a ela se prendiam, espalharam-se para as atixitiades econômicas c.xistenlcs no sul «●, como o Rio de Janeiro havia sc desenvoKido com o ciclo núncrador c em \'olta dèle se tivesse organizado pequena \'ida
c.i econónúca com a c.\portaçâo de
couros <■ o início da produção de açúcar e café na região fluminense, para lá aíluiu massa apreciável de mão-de-obra. proec-ssando a adaptação do elemento núm-rador às atividades agrícolas, que bíbc-rnurain por quase 50 anos, pois só cm 1850 havia de se constituir nas suas bases definitivas o ciclo do café, que perdura até hoje. Contudo, continua a e.xistir, cm volta das regiões inineradoras, massa considerável da população, dc.scendentc dos antigos exploradores de ouro, que lá vive parcamente cm tômo do uma agropecuária muito pouco pro dutiva.
A dc.scobcrta das minas de diamantes .se proce.ssou em plena fase de prosperi dade da exploração aurífera; mesmo as sim, provocou afluxo apreciável de minenidorcs. A sua duração foi também efê mera e os resultados econômicos não fo ram axultados. O total exportado, in forma o ilustre historiador a que tantis \'èzes já recorremos, está avaliado en\ 3.000.000 de quilates, que produziram £ 9.000.000 aproximadamente. Em faco do açiicar e do. ouro, a contribuição diamantífera foi pequena e o que deixou como realização material não teve maior -j|
. 124 Dir.nsTo Economu
(/■
turll dò^S”
lâ
uais e desta vez surge também a planta ção algodoeira do sul, situada em São moldes da cuKura Paulo O ciclo do algodão
, que segue
os principiou nos nambuco, Alagoas, Ceará e Maranhão o dcscn\'olvimento da cultura do algodão, proporcionando ao norte novo ciclo eco nômico. Ê o maior desmentido de que o “rush” da mineração foi a causa da cnicda do açúcar pela absorção dos bra ços aplicados no amanho da terra, pois surto algodoeiro se verificou em pleno apogeu mincrador. É verdade que não cxiKia cuidados c quantidade de maode-obra como o engenho; contudo, foi icultura intensa durante o pe-
Em seguida ã decadência do açúcar, ianque. A nova fase dura 10 anos mais Estados da Bahia, Per- ou menos, pois os Estados Unidos, vol¬ tando à normalidade, retomam o sua
o uina agn -
ríodo das minas. j j
O Brasil ocupou, desde meados do final do mesmo, o fornecedor munséculo XVIII até o primeiro lugar dial ele algodão, o que permitiu o povoa do^ vasta zona do território naestendendo a área colonizadora.
como mento cional
Infelizmcnte, a expansão dos algodoais nos E.stados Unidos arrebanhou os mer cados internacionais brasileiros e, 1800 a exportação brasileira para os paiêuropeus é prãticamente eliminada do comércio exterior da Co¬
I lônia.
em ses da pauta
Por ocasião d"a Guerra de Secessão norte-americana, novamente aparece o intemacioalgodâo brasileiro nas praças
antiga posição ao mesmo tempo que a abertura do Canal de Suez, como apon ta 0 prof. Alfredo Ellis Júnior, carreia para a Europa o algodão oriental, em 1930 dever-se-ia dar a e.vpansão algodocira, que subsiste até hoje tra sinais de franca prosperidade.

A pecuária
Só e mos-
A pecuária só sé desenvolveu em tômo dos pontos econômicos mais importantes: a cana-de-açúcar, a mineração e a agri cultura, que foram os pontos de irradia ção econômica c de colonização. ^ Isso se deve ao sistema alimentar da Coiônia, que sc baseava principalniente Além disso, o boi e o burro foram fatôres do trabalho e de transporte de alta significação no Brasil de então, povi*m, falôres subsidiários das atnãdadcs prin cipais. Daí ter Roberto Simonsen, niinut feliz, denominado a pecuária — retaguarda econômica.
A pobreza de recursos vigorantes na fase colonial, até mesmo para os proondimentos de grande expressão nómica, impossibilitou a constituição dc pecuária avançada. Ao contiár.o. ●atividade secundária, para ela *oi que havia de pior; daí a forma pri revestiu,- particulai
na carne. expressão i;m ceo uma como mitiva de que se
mente no que diz respeito aos p:istos, visto ti lei ter excluído a pecuária das dez léguas maritima.s reseivadas e.xclusivamente à agricultura. Por ésse moti- I vo, o pastoreio teve que, no norte, de- ' mandar as terras do sertão baiano e í pernambucano, inóspitas para a enação, e, no sul, os Campos Gerais, Salvam-ee
125
DioESTO Econômico
Os resultados colhidos não podem ser comparados com os dos dois ciclos prin cipais da nossa economia colonial, po rém contribuíram para a formação do aWm capital em outras regiões do P-fís ao mesmo tempo que alimentaram, anós a decadência da produção açuca rara a pecuária que se desônvolveu .subsidiãriamente ao engenho.^ Nao fosse êsse novo artigo de exportação, a situa ção do norte teria se agravado muito I
r.
clesta regra os Campos dcf Coil; ilha Joannes, no Pará.
A pecuária, econômicas seguindo as principais
ica7.<‘S e a grande sie;. d,- 1H91-9G. s«‘ recrgiierii.
í; r I
●s
Nunca m.iis '
erais, a
, se espalha por <juase todo o território nacional, assiinfindo, porem, em cada região em ímuconcentra, um aspecto particular permite distinguir três espécies/ do sertão do nordeste- b) -i d , nieridional de Minas Gerais- ‘ planícies do sul, Gerais (Paraná)’
ô. Rio Grande, se um
ati\idad«se o (pie a) a jiarle a das o.s Ci incluindo unpos isto ^ o e.vtreino .sul, Em cad; zona fonnou-
tipo diverso como de antiga c a por sua -se o
A do nordeste é a mais pnmitiva. Divide om dois ciclos: a) se inicia
denominado os “rT / P ^laranhão,
H.-0 Grande Nort f
Em ambos, a f„nç.ão é . fornecer animais engenho
se inicia, comércio da grande releva
s«-nta in«-lhor aspecto, ''estidos sã fazenda

cuária já apreOs capitais insuf) maiores o as instalações d» inais adcípiadas e estáveis. Os pastos são c(-reados c pratica-se a rota ção das imernadas, Ao lado do pastoícMi (lesenvoK-c.sc pequena agricultura subsidiária, destinada a fornecer melhor .ilimento ao gado, principalmente o far<-lo d<; millio, Os subprodutos são tamIjeiii utilizados, formando-se a indústria de laticínios.
, cria-sc ■ ■ animais (jiu- exigem maiores e eariu-iro. cuidados.
i
vez
que > o
e carne .s nao sao
íí apenas a de para os trabulho.s do para a alimentação da nea. Os subproduto Só mais ta 1
eará e carne seca,
cia. vimento do ção da Colônia! pastoreio
A pecuária do nordest a rase colonial cesso-, áureo.
e durante tôda ^ se desenvolve com «ti
O século XVITT A «
No final do século, in.cia o seu declínio, pois ^100^11“ rouba o mercado do Brasil CêntiaT I Agravam a sua situação as secas r afetam os rebanhos nordestinos.
, pe mortal lhe A’ai ser as.sestado
que O golcom a
O ciclo sulino, se bem apresente técnica rudimentar do nordeste, melhores resultados, devido às hoas condições geográficas, adaptadas pastoreio. Situado, porém, longe das afi\’i(Iades econômicas principais, não tornece, a princípio, o elemento central, a carne para a alimentação, mas outros produtos. Assim, prelinrinarmente, couro, dc-pois a xarqueada, que vai su plantar a carne sôca do nordeste. Forina-sc também do .sebo para cordoaria. Nã a indú.stria dc laticínios. < ntanto, bestas c Minas.
0
a indústria subsidiária áo liá, porém. Criam-se, no carneiros como cm As condições favoráveis do local rde c , . “cpois no Piauí, que vai ter não só no dcsenvolcomo na alimenta-
A pecuária exerceu,
vesse na expansão geo
gráfica da colonização, papel importan tíssimo. Além disso, como infra-estrutu ra econômica, permitiu a formação da unidade econômica brasileira através de três funções principais:
a) o comércio de burros com as suas conhecidas feiras;
b) as tropas carreadoras das riquezas dn interior e mesmo do litoral sul, táo des provido de rios apropriados para vegação; c) a naos
^ capitais investidos inJÉÉ ■jm
12fi !<’ Dickski Economh
1^111 Minas (I pe r
Além disso porco
I ; nao só de eriaeão povoamento c de cultura
\ população litorã explorados. / ^
mais
u
mesma revela no
p<Tmitiram que a pecuária se desenvolnaquela região, sendo até liojc uma das principais do Brasil.
no C o an l
bons mercados uriat,‘iic) ciam clc elementos da terra c os seus rendimentos aqui permaneciam, contribuindo dessa forma para a forde uma ricpicza tipicamente na- maçao
eional.
Além dessas tres descnvol\’cram-sc
atividades essenciais ainda na colônia ou-
.suas metrópoles serem consumidores, além de possuir vasta rède os produ- comcrcial, cm que colocavam tos dc suas colônias. Portugal, tendo população rala e de fraco rendimento, não possuía mercado interno adequado para as mercadorias de suas possessões e, podia escoar-se para outros consumidores, dominados pela como nao centros
Otít ras iitiüulodcs agricohis Inglaterra, França e Holanda, a produ ção colonial era obrigada a se contrair. Assim sucedeu com o cravo, canela, p'* numta, anil, arroz, baunilha c cacau,
cxploraçõc.s agrícolas de menor im portância, principaímento a partir do séfumo, que aliãs, data da segunda metade do século XVII, tendo a Cia. Holandesa das índias Ocialargado muito o seu mercado, o seu comércio devido
tra.s culo XVIIl, como o
Balanço da economia colonial à política dos pactos coloniais, destinaprodutos das colônias, revelou propícia às colônias da a proteger A política se
dentais decaindo porém
zes inglêsas, francesas e holandesas, visto as
PRODUTOS
tantas ^■e- Roberto Simonson, a quem temos recorrido nesta palestra, apre senta 0 seguinte quadro dos resultados econômicos dos produtos coloniais:
Cacau e Especiarias
total
os res os economia interna, a centros e de vida Serviram apenas para ocupar território e disseminar núcleos de potôda a Colônia, que, liquio pulação por dada a fase áurea do produto que concentrara, passava a viver em ní\’eis econômicos baixíssimos.

£ 16.000.000
£ 12.000.000
£ 12.000.000
£ 4.500.000
£ 4.000.000
£ 3.500.000
£ 521.000.000
O característico da economia brasilei ra no século passado é a sensivel dife renciação entre a produção do norte e a do .sul. A primeira entra numa fase de evidente retrocesso. Isto porque mercadorias que produz ou encontram forte concorrência das similares forne cidas pelas colônias dos países europeus mais adiantados ou são vencidas pela orientação política das nações européias.
as
lüT DicKsif» 1£co\('>mi(;o
DA exportação
os VALOR
£ 300.000.000 £ 170.000.000
Açúcar Mineração Couros Pau-Brasil Algodão Arroz Café
O século XIX
Como se vê, o açúcar e a mineração produtos que maio- foram de longe rendimentos apresentaram; contudo, resultados não foram vultosos a ponto de criar próspera não ser em pequenos efêmera. a
>
seu artigo funda
encontrou outra que o substituísse; dai a grande contração econômica que sofreu. ^ vidades secundárias tiveram O k sacos
fumo
decai
supressão do tráfico, visto ser ‘ usado
Para os senhores^ progresso vamos ler ■ € 1770 170(5 1800 1821/30 1831 /.lO 1841/50 1851/00 1801/70 1871/80 1881/90 76 arrobas . V
À
om a ^ , o produto no csca a mão-dc-obra ^ algodao teve que ceder tí-r rono ao prodolo oorto-americano ciu^clo cm melhores condições.
pn>-
. art?g/“de h ““"‘--ar um
negra. i ti» progresso®. ° '1"'= P>=™i■ hoje De hL n ÍT ““
' se transfonna ém poucos anos
_ .
r hsT paio planalto t
No século vinte, as ostatístiens aban donam a casa dos mil para entrar na dos milhões, alcançando a partir cie 1927 duas dezenas cie milhões de sacas, nproxinuiclaincntc. Por onde passa, a rubiácea vai transformando a região pela abertura do cslraclas-dc-fcrro, pela fun dação ele cidades, pela construção de portos, pelo alargamento da rôde ban cária, pelo desenvolvimento de ati\ idaclcs produtivas secundárias c aín- pelos saldo.s da balança comercial qnc, SC permitem adquirir artigos de > luxo no estrangeiro, dão também a pos sibilidade dc importar equipamentos in dustriais, abrindo assim a nova etapa do Brasil econômico — n produção manu— que toma certo vulto a«,partir ele 1880 e sc consolida com cio 1914-18.

outras cia fatureira a guerra Ganha ainda mais fôrça c maior expansão com a crise de 1929. A contenda de 1939-45 e ôstes anos de apôs-guerra completaram a obra pela criação das indústrias produtoras de bens do produção, entrando o Brasil, definitivamente, na sua fase industrial, que lhe confere a possibilidade de transforantiquacla estrutura produtiva de país econòmícamente suMesenvolvido, . íSI ‘S:.
terras do Pao solo do HÍJ- nosso* K impe-
I- feeL1^r;r'e:r„a‘nV“
A causa principal disso foi, sem dúvida, a decadência do açúcar, ocasionada pela ii- j^pncoirência do produto similar das co: lonias tropicais européias c do extraído da beterraba no Velho Mundo. Subs tancialmente ferido mental, o norte lavovira l)lc:^sl<l r^]
rial c republicana, rein i<léia do seu as sí'uuintes c*ifras: ac(;ntuadamente c
nao 8.405 82.245 3.178 10.430 18.3G7 27.339 29.103 32.609 51.631
no As atiigual .s«)rte.
u mbo corn
P^cura i„™ro:c7o„™rtr' ‘““l
Fíf iim lado, à indoT.oJ,M ●
.
I
sua copau. itsta. Hojo anda já pdas P'rana, preste.s a deixar Estado.
mar a
LIVROS & REVISTAS r
EUGÊNIO GUDIN: “Princípios de Economia Mo(Rio, 1952, ed. Agir, netária — 2.‘^ ^'oUlme.
310 págs.)
futuro, a his- Qiiando fòr escrita, no tória dos estudos econômicos cm nosso dade. Esse 1.® país, desde o visconde de Cairu até será proclamada a ver dade de que pouquíssimos brasileiros contribuíram tanto para o progresso déles cjiuinto o prof. Eugênio Gudin.
encontmdiça nos escritores da especialivoluine ^●e^sou a maté ria de moeda, bancos, inclusive o Banco Central, variaç'ões do valor monetário e câmbios internacionais.
os nossos dias. desenvolvendo na ca: das cátedras, vem uma desvelada assistência. Sábios estrangeiisitado, ensinado ou feito não raro ros, que têm conferências, cm nossos pais.
O seu esforço se vem pertinaz c eficicnlementc, há ands, cátedra no livro, no ensaio, no debate e na ação. É notório o seu esfôrço de cisivo para a reforma profunda de que resultou a elevação do n>vel intelectual das Faculdades de Ciências Econômicas. / A da Universidade do Brasil, onde ocupa recebendo a sua
VI iniciativa ou me dos conhecimentos sua acpii vieram por diação. O progresso econômicos, nos grandes centros estran geiros de pesquisas, não encontrou nunBrasil, mais ativo, claro e hábil limitado à simples ca, no cicerone Não se tem e eficaz difusão, o que já seria muito, mas exerce também a crítica e o contras te com as instituições e peculiaridades brasileiras.
A obra do prof. Gudin, os “Princípios do Economia Monetária” — l.° vòlume — (2.*'‘ ed. em 1947), representa serviço inestimável à formação intelectual dos economistas brasileiros. Os tormentosos problemas de moeda e crédito em co nexão com o processo produtivo encon traram um expositor seguro e informado numa linguagem agradável, nem sempre

Agora aparece o 2.® volume, que vem ^ integrar a obra com o seguinte esquema: - I. Eiementos básicos da Política ^íonctária: 1. Taxa de juros; 2. Teoria do-juro; 3. Economia c Investimentos; ●t. ■ Padrão-ouro. II. Introdução à Polí tica Ecotiómica: 5. Estabilização do ní\’cl de preços e moeda neutra; 6. Ciclos; Multiplicador e aceleração; 8. Teo ria do Emprêgo. III. Política Económi9. Política monetária c fiscal nos países industrializados; 10. Estabilidade econômica nos países de produção pri mária.
Quando Luigi Einaudi, atual presi dente da Itália, cm 1949, às vésperas J de jubilar-se na cátedra, prefaciou a úl tima edição de sua obra clássica, confes- . che per quasi mezzo secolo ba cercato di non dimcnticare mai di essere sem- 5 pre bisognoso de chiarire a se stesso le ■ idee prima de esporle ad altri”.
4( sa raro prof. con-con- ,
Ê 0 que revela ter feito com lôxito; nos seus “Princípios”, 0 Gudin, porque a sua exposição é um modêlo de claridade, sòmente alcançada pelos que conseguiram, no próprio espí- ; rito, estabelecer a harmonia e a luz no ^ labirinto das teorias e doutrinas que se entrechocam sôbre os problemas \nilsivos e movediços da economia temporânea. Mas um expositor, ainda quando vê lúcidamente o entrelaçamen-
í
% i
r
t
I; li i Li
novas, ou nas , mente as de F- cessitamos
que mais neformação
iiessc particular, um olhar indiscreto e * inquiridor neste 2.° volume dos "Princípir)s”, Aliéis, o Autor foi dos primeiros (jue di.s<utiram Keyncs, no Brasil, há ( èrca tle 12 ou 15 anos. Increpando a <onfusão (pie o discutido autor da “(Jeneral 'I'heory” semeou no debate, o prof. (àidin reconliece-llie o saldo credor:

“Mas a esterilidade dos debates cria dos por essa confusão o mais o injusto menosprezo \-olado a tantos economistas de reai valor, representam, mesmo assim, um preço im')dico [xdu contribuição Ireinainentc valiosa trazida por Keyne.s ao estudo do tantos problemas econômi cos dc capital importância.
%
lí
í passa, ■. da
pre-
k culUiral du mocidade admi' M- econômico, k lhe falta, igualmente, » balanço entre o universal c o local, entre o geral e o especial. Por isso mesmo, o seu livro é utilíssimo ;■ para quantos se interessam pclo.s problemas do Brasil na hora que como a inflação, os distúrbios nossa industrialização “à la diable” da nossa estrutuía de ’ ponderante produção primária, etc.
Aliás, e câmbio, des, valorizações monetárias, contrôles de im portação, medidas de política fiscal Outras
“A prceminôncia do problema da procura coletiva ü dos investimentos como meio dc incrementá-laj o princípio dc que as econo mias são função da renda, (jue as gera (e não da taxa de juros); a advertência de que a babca do salários nominais é uma arma de dois gumes, que faz bai.xar os custos, mas também reduz a procura; a possibilidade de equilíbrio em situação de subemprêgo; o impulso dado ao estudo da funçãoconsumo e à teoria do multiplicador, tudo isso são novos c luminosos rumos abertos ou reabertos ao pensamento eco nômico contemporâneo”, (pg. 227).
se
o
na , etc. vezes, mostra a sem-razão dc aparentes divergências, como as de Haberler e Viner, dum lado, e Otávio ; Bulhões, doutro, a propósito do crédito seletivo como freio à alta de Já se escreveu que nenhum preços, economisV': na, depois de 1936, deixou de sofrer r impacto da influência de Keynes, quer o seguisse, quer o combatesse. É curioso.
J
■ ■I p. U, fpjl 1:1(1 lllM Sto l\( Ct\(^
dus i>r(jblemas ecouóniícos c das suas ; interpretações, luta com a dificuldade da dosagem ou seleção da matéria, eterno <1 tormtínto de (juantos ensinam. Qual a r madeira sèca a p<}dar-sc, sem sacrifício 5 <lr) elcanento histórico necessário à comf- pr<;en.são dos debates? Qual o definitivo, ou o estável, nas idéias ;i' roupagens com que se vestem as idéias b \-elhas? O equilíbrio, quanto à seleção L i* á medida, é mantido galhardamente > pe o prof. Gudin nessa cadeia de dificuJdades peculiares à elaboração dc W desse gênero, exataB Io
Ainda é a propósito de Keynes que pode cometer outra indiscrição em tômo do pensamento político do Autor. Todo economista, ainda quando pretende fazer “economia pura” e evadir-se de qual quer “valoração”, trai uma inclinação po lítica em face do enigma social do fu turo próximo. No mínimo, convertem-se cm profetas, como Schumpeter, no seu canto do cisne. O prof. (5udin não es caparia à regra. Para êle, Keynes "é o amigo da onça do capitalismo" (pg. ^
ex-
não diagnostica apenas, - su, gere quase sempre a terapêutica e adver te dos pengos de cada remédio os nossos improvisados boticários. Assirn rreco?°; estabilizaUo^e preços, taxas múltiplas d
Entretanto não foi
pois cnanioradü do sistema, como aliás o confessou de modo desenganado, ‘■part“Ci* radicalmente contraditório com tantas dc suas proposições de ordem econômica”, desde a “eutanásia do ca pitalista” até a socialização dos investimcnto.s, que o “poderia levar diretainento ao pleno regime socialista.” Até aonde conduzirá tudo isso? — comenta, alarmado, o A., numa preferência ou valorayão inequívoca,
.sòmcntc Seymour Harris, um keynesiano, cpie defendeu o famoso economista in glês dc qualquer suspeita de deserção do capitali.smo. A melhor das defesas
dèlc nesse particular, não teria sido feita por um marxista, o prof. J. Eaton, no recente panfleto “Marx against Keynes"?
Èsse novo tomo da “Economia Mo netária”, útil fjté aos que se não dedi cam à meditação econômica, se inscreve rá como mais um grande senaço pres tado pelo prof. Gudin à cultura do nosso pais, que já lhe deve tanto. ImpÕe-se ao respeito e à admiração dos que o leram, até quando eventualmente diver gem dele num ou noutro ponto suscetí\’cl dc contro\'érsia.
AlIOMAR BALEJEmO
EMANUELE MORSELLI: “Compêndio di Scienza delle Finanze” (Pádua, 1952, ed. Cedam, 355 páginas.)

nas livrarias a 21.“
Acaba de aparecer edição do conhecido compêndio do ilus tre prof. Morselli, titular da cátedra de Finanças Públicas na Universidade de Ferrara e diretor do “Arebivio Finanziavitorioso anuário especializado o “Digesto Econório”, o dc que já se ocupou mico” nesta secção. de simples reimpressão da obra que tão útil já se mostrou aos es tudantes da língua italiana e espanhola, traduzido que foi na Argentina. O seu provecto uutor aumentou apreciàvelmente o livro, pK>ndo-o em dia com pro blemas palpitantes da economia e das finanças piiblicas.
Dentre esses acréscimos, dois, sobretuobra e merecem es-
Não se trata do, enriqueceram pecial referência: vas teoria kcynescana sobre os estudos fi-
— as páginas relatià parafiscalidade e aos reflexos da nanceiros.
Morselli, há cerca de dez anos, em “Lc! Finanze degli Enti Pubblici
■|'orriloriali”, foi dos primeiros que inuon
\estigarani o aspecto fiscal dos órgãos j paraeslatais, notadamente os de pre%i- i dência ou seguro social. Em 1950 e 1951, na “Revué de Science et Legislation Financière”, travou acesa discussão com Merigot e Laufenburger acerca des ses fenômenos, designados como “parafiscalidade”, depois do Inventário Schuman. Para êle, os fatos parafiscais são uma finança diferente, ou pelo menos especial, que se distingue do fisco co mum ou do Estado. Não é êsse, aliás, nosso ponto de \nsta. O assunto é dos mais palpitantes para o Brasil, onde as receitas parafiscais (Institutos, Sesi, Sesc, L. B. A., etc.) não só já vêm suscitando problemas jurídicos à luz do art. 141 § 34 da Constituição, mas exercem con siderável influência sobre a conjuntura, desde que se elevam a cifra igual à me tade do orçamento da União e represen tam parcela considerável da poupança popular disponível para in^’estimentos.
Keynes não se ocupou de Finanças Piiblica.s, mas a “General Theorv” con-
Ok;ksk' Econômico 131
^ i
b téin várias passagens que vèm inspiranr do a política fiscal antícíclica. Morselli, 5 nesta última edição, traz um resumo r claro piira orientação dos estudantes de ^ finanças,
e Outro aspecto interessante do pensa/ iiicnto financeiro do professor de Ferrara ô a ênfase ejue dá à correlação das Jl, Finanças com u Ética.
cin iü52, 6 um dos mais claros, mo-] clernos V j>óríüs li\TOs para quanlos de-1 sujam iniciar-se na Ciência de Finanças.1
A ilespeitu cie ler sido escrito em face ● das in.stiluivúes financeiras italianas, a ] sua consulta ó proveitosa aos estudantes i du i^rasil, que lutam com a dificuldade| de obras didáticas sõbre essa disciplina.1
Auo.NfAJt Baleesho
O “Compêndio”, tal como aparece, %
ÉOISON PASSOS: "Plano Nacional de Viação c ^ Conselho Nacional cie Transportes” — (Depart. 3 Imprensa Nacional — Pio, 1952. — 259 págs.; vários mapas e cartas).
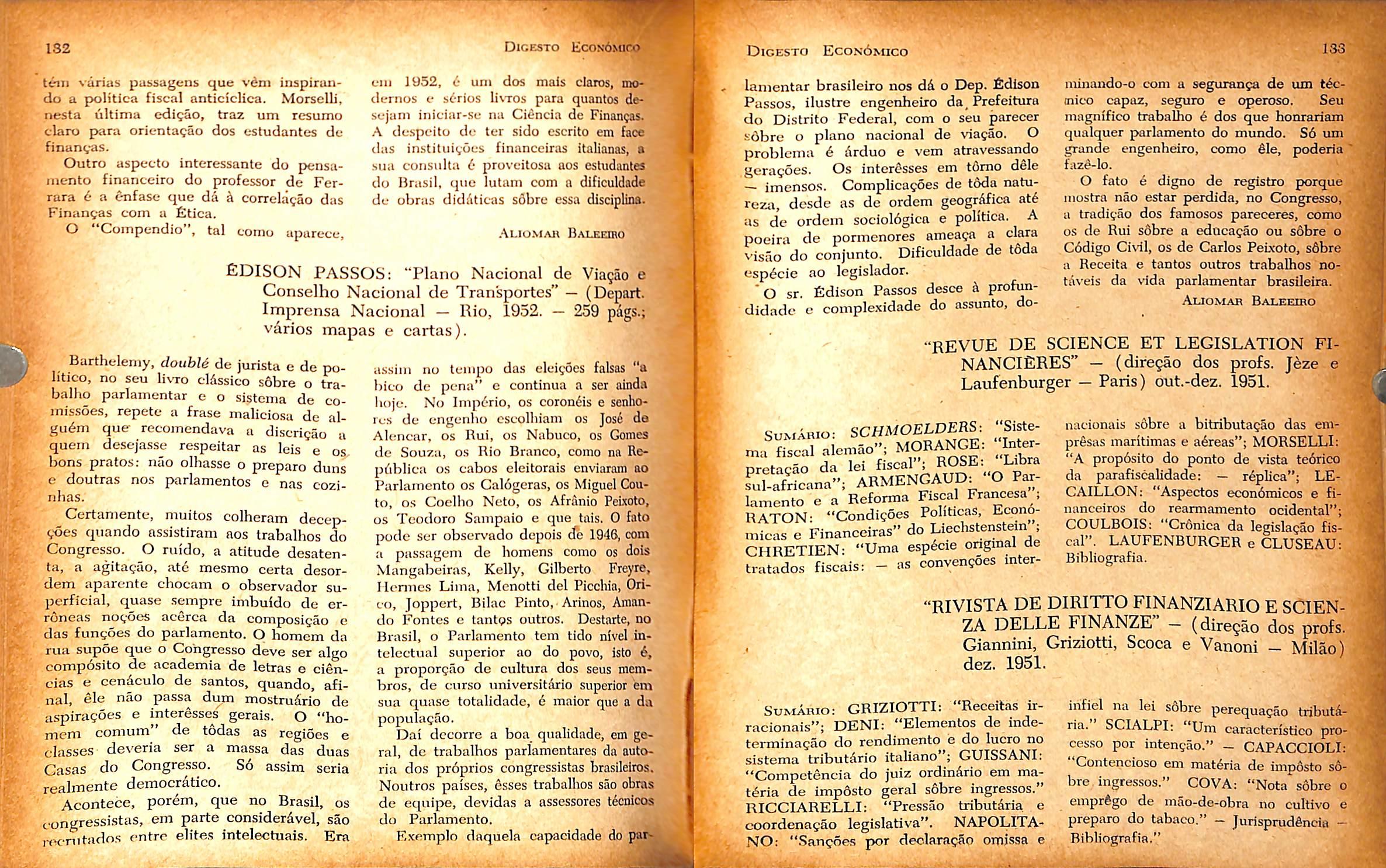
t. Barthelemy, doubló de jurista e de y. litico, no seu livro clássico sôbre balliü parlament ini.s.soes, o sistema de repete a frase nmliciosa de
poo traalguêm que recomendava u discrição r quem desejasse respeitar
ar o 0 nas c uns e os r ● ozi-
coa ns lei.s ; bons pratos; não olhasse preparo d o c doutras nos parlamentos Ilhas.
O ruído, a atitude desatenagitação, até mesmo certa desorsuí, pcrficial, ^ rôneas n ernoçõos acerca da
assim no tempo das eleições falsas "a bico de pena” e continua a scr ainda liojf. No Império, os coronéis e senho- .. ics de cngenlu) escolhiam os José do Alencar, os Hui, os Nabuco, os Gomes de Souza, os Hio Branco, como nn Re pública os cabos eleitorais enviaram ao ^ Parlamento os Calógcras, os Miguel Cou- ’' to, os Cocllio Neto, os Afrànio Peixoto, ^ os Teodoro Sampaio e que tais. 0 fato A pode scr obser\'odo depois dc 1946, com * dc homens como os dois a passagem
O “horegiões e deveria ser a massa das duas Só assim seria
Certamente, muitos colheram decep ções quando assistiram aos trabalhos do Congresso, ta, a dem aparc-nte chocam o observador quase sempre imbuído de composição e ^ das funções do parlamento. O homem do K' rua supõe que o Congresso deve ser algo íí' compósito de academia de letras e ciên^ cias e cenáculo de santos, quando, afíJ ' nai, êle não passa dum mostruário de f. aspirações e interesses gerais. ■I mem comum” de todas t, classes ; ■ Casas do Congresso.
Mangabeiras, Kelly, Gilberto Freyre, Ilenncs Lima, Monottí dei Picchia, Ori- J CO, Joppert, Bilac Pinto, Arinos, Aman do Fontes e tantos outros. Destarte, no Brasil, o Parlamento tem tido nível in telectual superior ao do povo, isto é, a proporção de cultura dos seus mem bros, de curso universitário superior em sua quase totalidade, é maior que a da população.
' realmente democrático.
V Acontece, porém, que no Brasil, ‘ congressistas, em parte considerável, são tados í-ntrr elites intelectuais. Era
as os '
Daí decorre a boa qualidade, cm ge ral, dc trabalhos parlamentares da auto ria dos próprios congressistas brasileiros. Noutros países, esses trabalhos são obras de equipe, devidas a assessores técnicos dü Parlamento.
F.xemplo daquela capacidade do parj
Digesto EcoxóMiro IS2 'fÀ
r. i r ■í i-cc rn
I
^
lamentar brasileiro nos dá o Dep. Êdison Passos, ilustre engenheiro da_ Prefeitura do Distrito Federal, com o seu parecer sòbre o plano nacional de \aação. problema é árduo e vem atravessando Os interôsses em tomo dêle
gerações.
— imensos. Complicações de toda naturezii, desde as de ordem geográfica até us de ordem sociológica e política. A poeira de pormenores ameaça a clara visão do conjunto. Dificuldade de tôda espécie ao legislador, 'o sr. Édison Passos desce à profun didade c comple.xidade do assunto, do-
miiiiuido-o com a segurança de um técSeu cnico capaz, seguro e operoso,
magnífico trabalho é dos que hoorariam qualquer parlamento do mundo. Só um grande engenheiro, como êle, podería' fazé-lo.
O fato é digno de registro porque mostra não estar perdida, no Congresso, a tradição dos famosos pareceres, como os de Rui sôbre a educação ou sôbre o Código Ci\’il, os de Carlos PeLxoto, sôbre a Receita e tantos outros trabalhos no táveis da vida parlamentar brasileira.
Aliomab Baleeiro
“REVUE DE SCIENCE ET LEGISLATION FINANCIÈRES (direção dos profs. Jèze e Laufenburger — Paris) out.-dez. 1951.
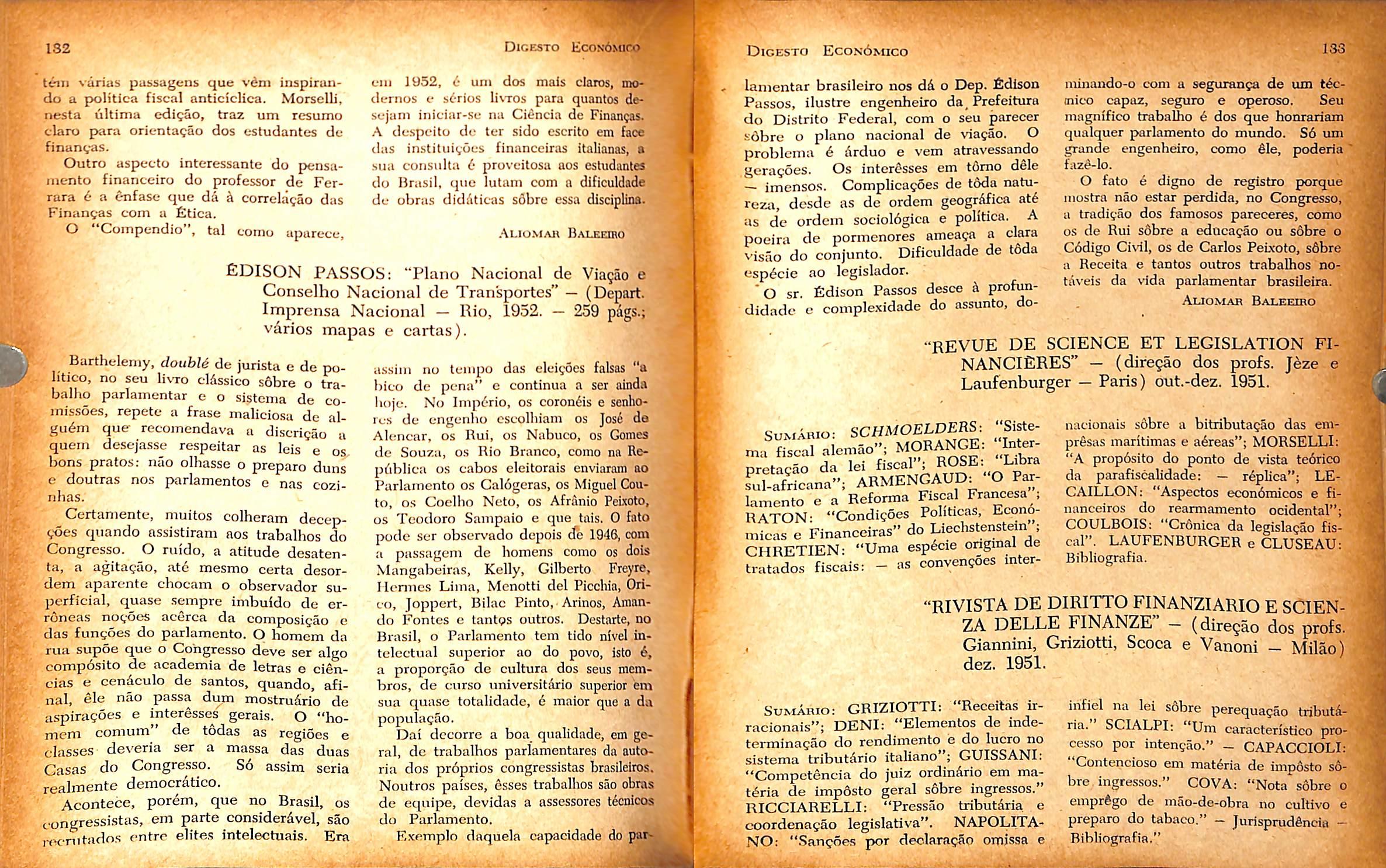
U lamento c a RATON; micas e Financeiras
if
● ● i CIIRETIEN: “Uma espécie original de tratados fiscais: - as convenções inter-
nacionais sôbre a bitributação das emprêsas marítimas e aéreas”; MORSELLI: ‘‘A propósito do ponto de vista teórico da parafiscalidade: — réplica”; LECAILLON: “Aspectos econômicos e fi nanceiros do rearmamento ocidental”; COULBOIS: “Crônica da legislação fis cal”. LAUFENBURGER e CLUSEAU: Bibliografia.
RIVISTA DE DIRITTO FINANZIARIO E SCIEN-
ZA DELLE FINANZE — (direção dos profs. Giannini, Griziotti, Scoca e Vanoni — Milão) dez. 1951.
SuMÁuio: GRIZIOTTI: “Receitas irElementos de inde- U perequação tributáUm característico pro- CAPACCIOLI: t) racionais”; DENI: terminação do rendimento é do lucro no tributário italiano”; GUISSANI: .sistema
91 « na. ma
. \
■f
RICCIARELLI:
“Competência do juiz ordinário em ma téria de impôsto geral sôbre ingressos.” Pressão tributária, e ft
NAPOLITA-
NO: “Sanções por declaração omiSvSa e
téria de impôsto sôCOVA: Nota sôbre o
emprêgo de mão-de-obra no cultivo e preparo do tabaco.” - JurisprudênciaBibliografia.”
í
■1
I
A. 133 Digesto Econômico
O
1 »
t
-i s i ,1
4f SisteSuMÁuio: SCHMOELDERS-. fiscal alemão”; MORANGE: ‘ Interda lei fiscal”; ROSE: “Libra "O Par-
ma ™f-afrfc°ana”; ARMENGAUD: Reforma Fiscal Francesa ; ‘‘Condições Políticas, Econódo Liechstenstein”; I
infiel na lei sôbre SCIALPI: cesso por intenção. “Contencioso em
bre ingressos. 99
coordenação legislativa”.
AMERICAN ECONOMIC RFA'IE\V" (American Economic Socictv — Uni\ . dc Northwestern, Illinoi.s. E. U.) (Ic/.. 1951.

iinta avaliação secular”; ALEXANDEH: “Teo¬ ria dos desfechos dos ciclos do negó¬ cios”; ZAUBEHMANX: Teoria e polí- iiiínio”; AHKOW: “l.igeira critica à eco nomia do l)em-«-stai”. — C’onniiiicaçôes tiea do ouro na economia so\iética".
SuMÁiuo; UHK: “K. Wicksell(la LitI. raiiva do Pr<v>”: DOBROWSKY: “PoiíUtiis (Ic Dcprcciavão c Decisões de Iii\'('.sliincnl(j”; ADAMS; “O caso do alu- .
MARKHAM: ‘Natureza (● significação Bihliogralia.
nai.s ao Poder de Tributar”.
liLimitações Constitucionais ao Poder dc Tributar”.
Agradecemos a Aliomar Baleeiro gentileza da remessa de seu último ihincíj)ios \incnlados ii unidade ocon6mica (Io país; Princípios implícitos; A parafiscalidade; Os princípios do art. 202 da Càinsliluição; A causa do impósto e a cai>acidade conlrilnitiva; Critório pcssoal
vro: w , trabalhos anteriores desse estudioso atilado rídicos e financeiros, ra da extensa
Conhecemos
de assunto.s juporem, a leitumonografia nos permitiu
escritos anteriores sejam de qualidade mas por revelar o atual durecimento da preclara ilustre professor da
inferior, amainteligência do .. , _ , . Faculdade de Direi o <1 Bahia, bem como o cnriquccimen o a cultura pelo trato diuturnn e direto dos problemas nacionais através d
parlamentar
de; Imunidade recípro¬ ca; Imunidade das ativi¬ dades religiosas, polítiniorais e culturais;
«4
Pelo enunciado, vè-se que trata dos principais assuntos da Ciência das Fi- _^ nanças e alguns bastant»' controvertidos.
, graduação c capacidade Aspectos econômicos; As- (conómica; I _< pcclos políticos. i melhor aquilatar a capacidade notável de raciocínio, de argumentação exposição do autor. e dc Não porque seus
O doioínio da matéria pelo autor o faz_J \ersar com maestria sobre todos, para gáudio c proveito do leitor, seja èlc _' erudito ou principiante no terreno árduo -
das finanças.
O (pie (lá especial realce ao livro é a forma como o autor trabalha o as.sunto, pois não SC limita ao aspecto purament(“ jurídico c econômico; ao contrario, discute os problemas .s()bre todos os ângulos, o cjuc llie permite pro fundidade. no estudo (' acerto nas conclusões
//
'/////;:'l.
(ju(' apresenta. Além disso, soube 0 calcdrátiCO baiano dispor a.s quostões em tal ordem, (]uc le\a o leitor numa
I )i<:Ksi'o lüroNÕMiro
ALÍÜMAR BALEEIRO: ‘Tlimitações Constitucio- _J (Rio de Janeiro , 1951. Edição da Revista Forense. — 338 pAgs.) _, I
o processo legislativo. O trabalho do , eminente e longo. Compõe-se dc 12 capítulos, que versam
seguintes matérias: as princípios Os constitu- 1 cionais da tributação; Legalidade e anualida-
sequência lógica íi peiiotraçfio do assun to, o que íleinonstra a proficiência e a scguranc.'** coin <jiu* r> autor movi menta as (jm‘slõcs fpte ventila.
de fatures jurídicos, sociológicos e po líticos.
Focalizii ainda no seu magnífico tra balho os tributos instituídos sob forma ele empréstimos compulsórios. Segun do creio, é o primeiro entre nós a es tudar essíi questão e a trata com mui ta competência.
qiicma
Magna, focalizando caclo problema '
De* falo, (í ilustre deputado inicia o li\ro, analisanch) os princípios consti tucionais que regulaincntani a tributa<;-âo no Brasil. Dejx)is do exqjor as ba ses cio direito de tributar, entra no tra tamento dos princípios cpic preservam a unidade econômica Jiacional no esfc*dc*rati\-o adotado pela Carta t*m seguida o deli da parafiscnliclaclc, mos trando estar prèso às regras constitu cionais disciplinadoras do poder de tri butar. Nesta altura do trabalho dedica
um- capitulo ao hiição cie 194(>.
artigo 202 da Consti-
E’ èste o ponto cui¬
íiiinante cia obra, mn cpie Baleeiro evi dencia o seu talento, estudando o fun damento econômico cia tributação. Se gundo o brilhante' professor, dacle contributiva
a capaciindividual, consubs-
E’ difícil passar cm revista, num apa nhado rápido como èste, os iniinieros pontos abordados pelo operoso deputa do. O limite que traçou ao seu livn) é largamcnle ultrapassado por conskleraç-ões amplas, que dão ao leitor visão mctajurídica dos temas ventilados. Porém, no terreno principal do seu tra balho — o direito tributário cional — abarca todos os rídicos cia questão.

uma constituaspectos juo que
t
Di\crgimos em alguns pontos da opi nião sustentada por Aliomar Baleeiro, é natural em obra de certo fò-
a
fanciacla jiniclícaniente no referido arhgo, é o fundamento econômico da tri butação. Acredita ser o mais adequa do, visto pc'nnitir o ajustamento do tril)uto com a capacidade individual do conferindo justiça fiscal,
lego, sem deixar de reconhecer, entre tanto, o \a!or das idéias e.xpostas e consistência da argmnentação apresen tada.
contribuinte,
que sc realiza (lucr nos impostos reais, quer nos pessoais sem prejudicar, poprodutivicladc da imposição. róm, a enfrenta u seguir a difícil questão da causa do impôsto e forncco estudo meticuloso e erudito, em que firma na capacidade contributiva causa basilar no campo financeiro, que se efetua através de um complexo
A obra de Baleeiro ocupará lugar dc projeção nos estudos .sôbre Ciência das Finanças, ao mesmo tempo que será contribuição de grande uülidade para a depuração de muitos defeitos conti dos na legislação pátria.
Aliomar Baleeiro a ,os
Náo queremos termmar esta aprecia ção sôbrc 0 livro de Baleeiro, sem re comendar a sua leitura aos eruditos es tudiosos das questões financeiras cionais, aos estudantes que se iniciam estudo das finanças e aos curiosos , procuram se informar com acêrto sobre problemas financeiros.
Roberto Pinto
na¬ no que Souza
F.<;oN<')Miro 1:1'
●^1
PAULO DO NASCIMENTO
t Qr
Importador e distribuidor, de se-
montes do ortaliças e flores dos
SEMENTES mclhoTos cultivadores.
MARCA REGISTRADA
VENDAS POR ATACADO E VAREJO
Remessas pelo reembolso postal.
LARGO GENERAL OSORIO, 25 — TELEFONE: 34-5271
End. Telegr.: SAO PAULO SEMENTEIRA'
Casa Rieckmann
INDUSTRIAL E IMPORTADORA S. A.
CAIXA POSTAL, 133
VENDAS POR ATACADO DE:
FERRAGENS, ferramentas, UTENSÍLIOS PARA LAVOURA, ETC.

Novo endereço:
RUA FLORENCIO DE ABREU,673
SAO PAULO
\ SEMEaTEim DE
e O
6^
SAL diamante êã st
BANCO DO BRASIL S. A.

Todas as operações bancárias.
Máxima garantia a seus depositantes
Nova tabela de juros para as contas de depósitos 5%
DEPÓSITOS POPULARES
' Reti Cheques valor mínimo de CrS 20 00. Não rendem juros os saldos inferiores a CrS
õoioo,. os saldos excedente ao limite e as contas en cerradas antes de 60 dias da data
Juros anuais, capitalizados semestralmente, radas livres. Limite ae Cr 10.000,00. Depósitos mí nimos de CrS 50,00, 20,00.
depósitos limitados _ « de C.;| 100.000,00 . .
— Limite de Cr$ 500.000,00
Reti-
J
4% 3%% uros anuais, capitalizados semestralmente, radas livres. Depósitos mínimos de CiS 200,00. cne aucs do valor minimo de CrS 50,00. Nao rendem juros os saldos inferiores a CrS 200,00, os saldos exce dentes ais limites e as contas encerradas antes de 60 dias da data da abertura.
anu^s,^captaUzados' semestraímente Retna^
CrS 1 000 00 nem as contas encerradas antes de 6 dfas dnatá da abertura. Melhores taxas de juros para as contas de depósitos nao inferiores a CrS 1.000.000.00.
Retirada mediante
Juros anums. çap 1.000,00. Sem lito inicial nosteriores e as retiradas. Não ren- ^ '
PÓSITOS A PRAZO FIXO
Por 12 meses . ● ●
Jm-os\nuaTs^'Depósito mínimo de CrS 1.000,00. Me lhores taxas de juros para os depósitos por prazo su perior a 12 meses.
letras A PRÊMIO
DE retirada mensal da renda Juros anuais. Depósito mínimo de CrS 1.000,00. Le tras nominativas, com os juros incluídos, seladasasprole- porcionalmente
Melhores taxas de juros para tras de prazo superior a 12 meses.
^
— DISTRITO FEDERAL — Rua l.° de Março n° ■i 66
Sede
i
t { t
“ âi-
“““'“O'
1: 2% I 4% 4%% 5% 4%%
5%
De prazo de 12 meses ● ● L
[V
● ● V
DE
ALFANDEGA ★
KYORAULI
Os Amortecedores Hidráulicos recarregáação aperfeiçoada
para os carros de classe
★
● ● Distribuidores exclusivos .
GAGLIASSO importadora
S, A.
Al. Barão de Limeira, 387 Tel.: 52-1212
EXPORTAÇÁO E
#*●
Matriz; SAO PAULO
R. 15 DE NOVEMBRO. 228, 3.0 and.
CAIXA POSTAI-. 4637
TEL.: 33-3914
Filial: SANTOS
RUA ANTONIO TELLES. 20
CAIXA POSTAL. 465
Caixa Postal, 1658
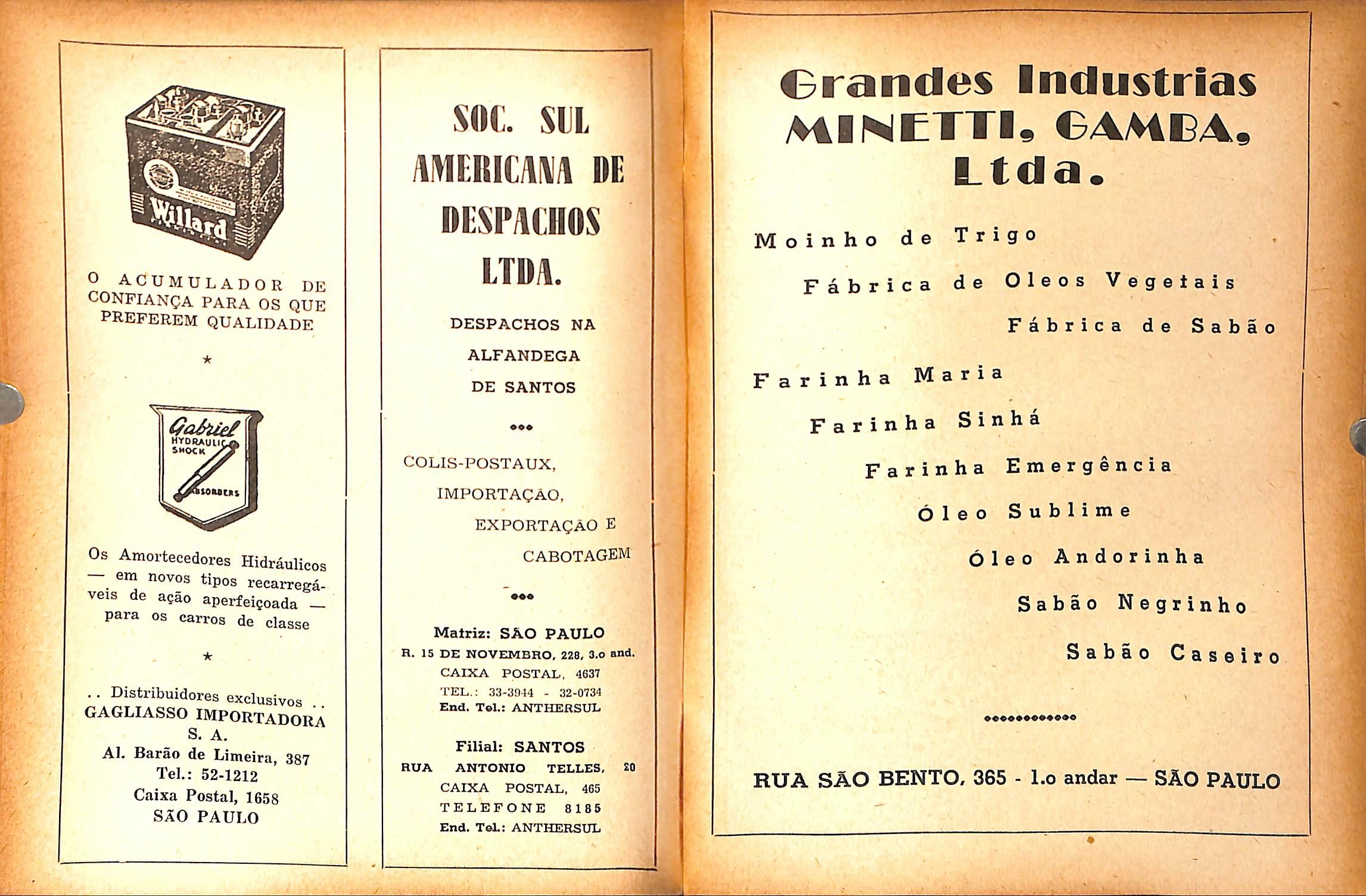
SÃO PAULO
TELEFONE 8185
f( lii t IL
I* I
■f. V y
O acumulador
SOC. SIL \Mr:mc/i^/i DE DESP/IÜÍOS
LTD/l.
CONFIANÇA PARA OS QUE preferem qualidade y If
DESPACHOS NA I
.V
5**0CK y
cabotagem
DE SANTOS
COLIS-POSTAUX,
IMPORTAÇÃO.
’
touits
*● h ,
~ em novos tipos veis de
End. Tol.: ANTHERSUL 32-0734
End. TôL: ANTHERSUL
Grandes Industrias
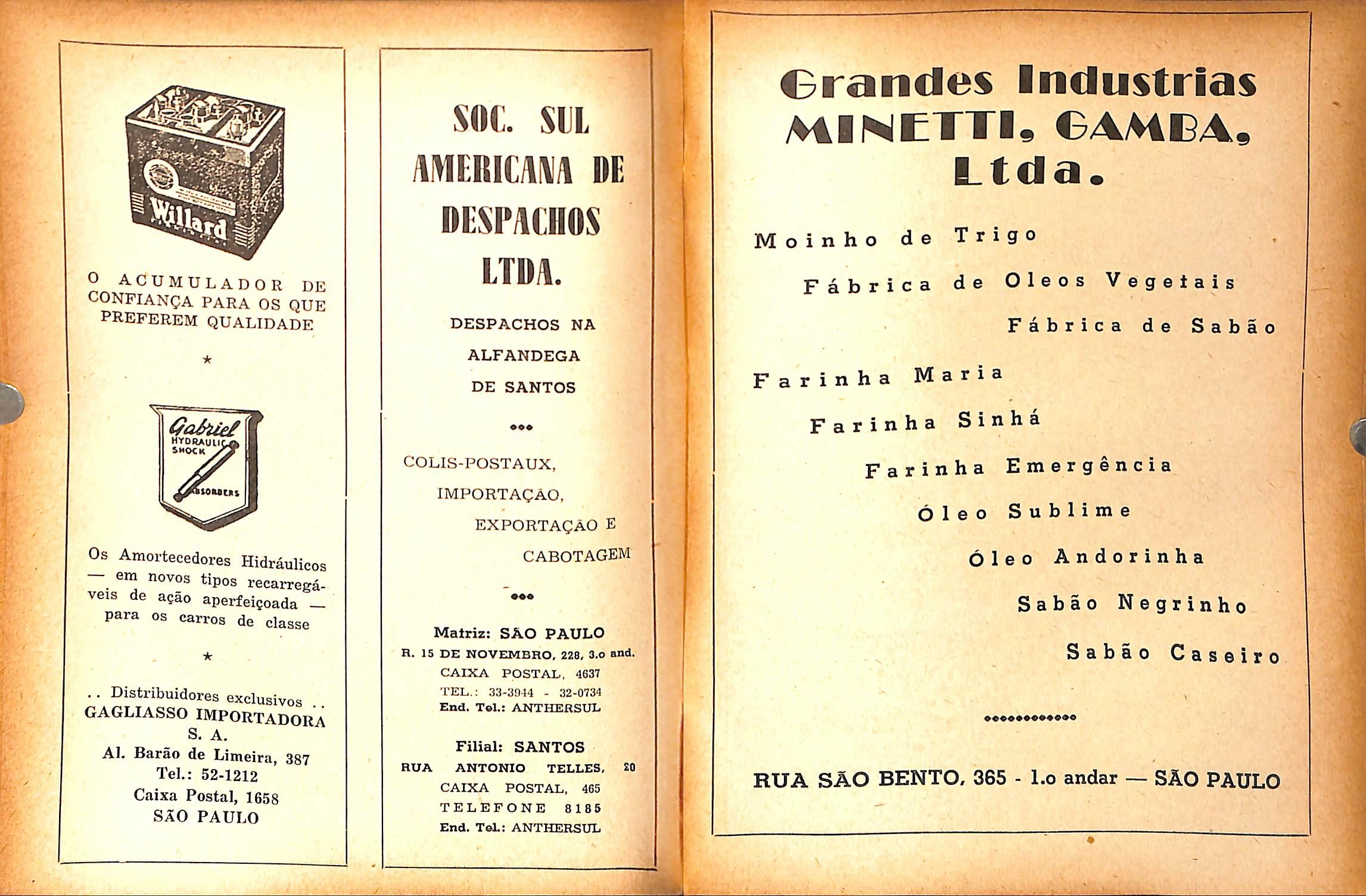
Trigo d e Moinho de Oleos Vegeiais Fábrica Fábrica de Sabão Maria F a r i n h a S i n h á ■I Farinha Emergência Farinha Sublime Óleo Andorinha Óleo Sabão Negrinho Sabão Caseiro RUA SÃO BENTO, 365 - l.o andar SÃO PAULO
MINETTI, G/l/HCA, Ltda.

w/^/--77í7jroi?5 guardadas sob sígíL ^●tjLados exc/i/síVaedirelamenteaosínletessados o \ RUA BOA VISTA. 51 — 9.0 ANDAR — FONE 3-1112 M ♦ ?<
J. FLORIANO DE TOLEDO
CORRETOR DE IMÓVEIS
RUA SÃO BENTO,45 ● 5.o ANDAR - SALAS 512-3-4
TELEFONES: 2-1421 E 2-7380
SÃO PAULO
i^iil Americano do Brasil A.
R. ALVARES PENTEADO, 65 — SÃO PAULO
'Endereço Telegráfico: SULBANCO
CAPITAL . reservas
Cr$ 30.000.000,00
Cr$ 26.315.515,50
Empréstimos — Descontos — Câmbio — Depósitos — Custódia Ordens de Pagamento — Cobranças.
FILIAIS
Rio de Janeiro — Santos
Capivarí — José Bonifácio — Neves Paulista — Pinhal Piraci¬
caba — Pirapózinho — Presidente Prudente — São José do Rio Preto — Tatuí. Urbanas: Ipiranga, Belenzinho, Vila Prudente.

i í
S' I ● /j
I >
Banco
f
DIOESTO EMMICO

noi mundo ào* um panorama mensal a
negócios, circula numa classe
no vável
tt' i'j't 'ê. fI‘j EDITÔR A COMERCIAL » ®-o JUTDAR TEL r limitada RUA BOA VISTA, 91 . 9-1112 RAMAL 19 — SAO PAULO t. J i
L PORQUE O SR. DEVE ANUNCIAR NO .
I t-
Preciso ruM informações, sóbrio e objclioo comentários, cômodo e elegante ua aprcsentf^' Ção, o Dicesto Econômico, dando aos seot leitores r
o de alto aquisitivo e elevado padrão de vida. Por essa* razões, os antsneios inseridos NÓMICO Dicesto Ec°' são lidos, invariàvelmente, por um comprador.
Esta revista é publicada mensalmente pela tôra Comercial Ltda., sob os auspícios da ciação Comercial de São Paulo e da Federaçà^ do Comércio do Estado de São Paulo.
STRANO S. A.
Comercial e Importadora f
Ferros em Geral
CHAPAS — TUBOS — ARA
MES — AÇOS
VIGAS "U" e "T EIXOS
Distribuidores da:
CIA SID. NACIONAL (VOLTA REDONDA)
CIA. SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA
R Cap. Faustino Lima, 292
Telefones: 32-8731 - 32-9892
End. Telegr.; STRAFER SÃO PAULO
Companhia Usina Vassununga
SOCIEDADE ANÔNIMA
Escritório Central:

R. DR. FALCAO FILHO, 56
lO.o andar — salas 1053/5/61
End. Telegr.: "SORRAB"
Telefone: 32-7286
SÃO PAULO
Usina:
End. Telegr.: "USINA"
Estação Vassununga - C. P. (Estado de São Paulo)
TTr 'S
— ÁLCOOL A£UCAR 1
f
Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
L E T I Z I A M A R I L Ú
FARINHA DE TRIGO o OLEOS COMESTÍVEIS de ALGODAO e AMENDOIM
SAO PAULO CAMPINAS ARARAQUARA SAN RIO DE JANEIRO TO S
ESCRITÓRIO CENTRAL :

Rua Libero Badaró, 462 - 3.° andar
Telefones: 33-1594 - 32-5720
SÃO PAULO
de Transncrtes
-H I n a s Gerais J I A.
___ Serviços de Transportes entre HIO — S. PAULO
E — SANTOS — NITERÓI, com eficiência, segurança e rapidez. 0
RIO DE JANEIRO: ’
BELO HORIZONT
RUA SAO JANUARIO, 74 ★ FONE: 48-G868
SÃO PAULO: RUA HIPÓDROMO.
BELO HORIZONTE:
, 1465 * FONE: 9-1111
AV. PEDRO II, 1712 ★ FONE: 2-7347
NITERÓI: TRAV. LUIZ PAULINO. 28 ★ FONE 2-1355
SANTOS: RUA PARANÁ, 279 — FONE: 2-7946 t
s T: «^
PRODUTOS t. )>■
r I I
it f-
í
l'-' if ,■