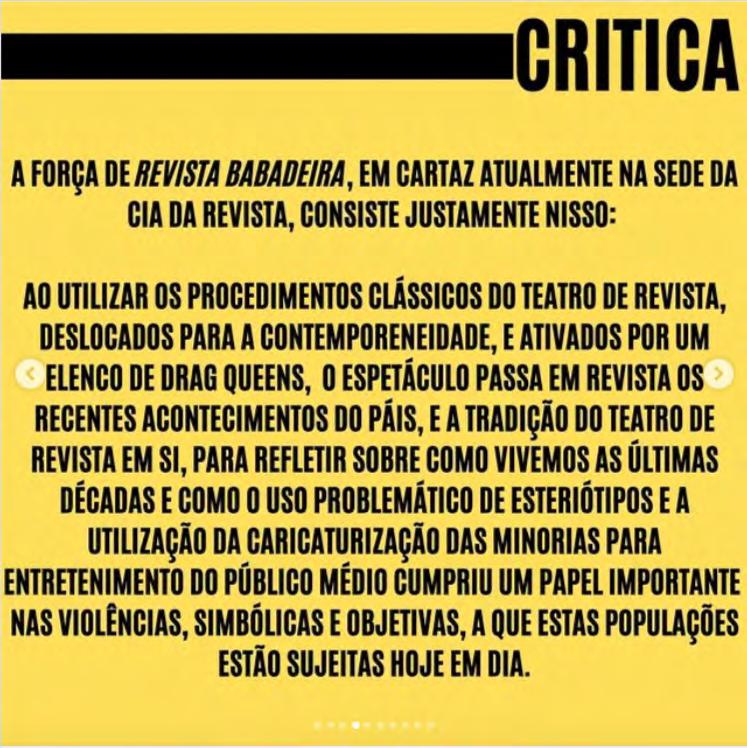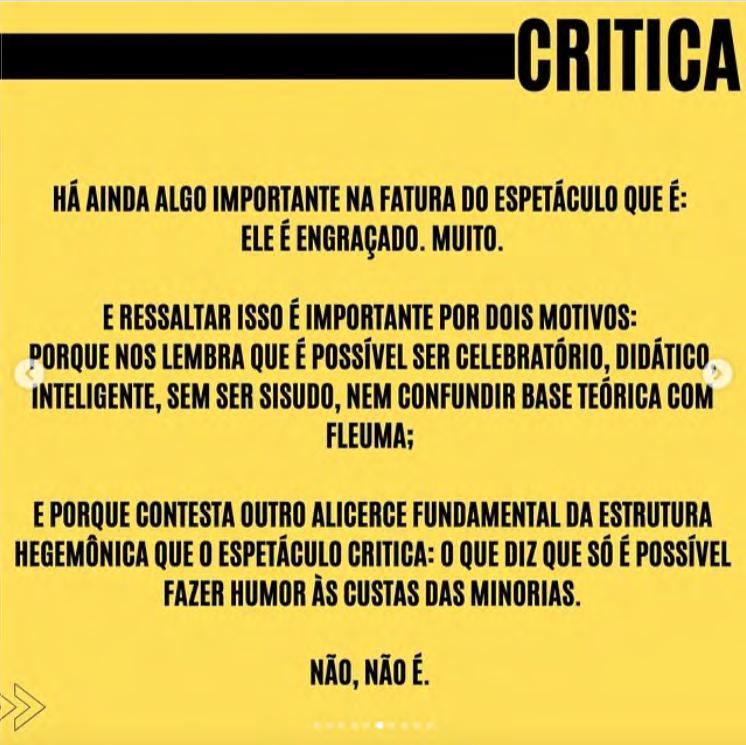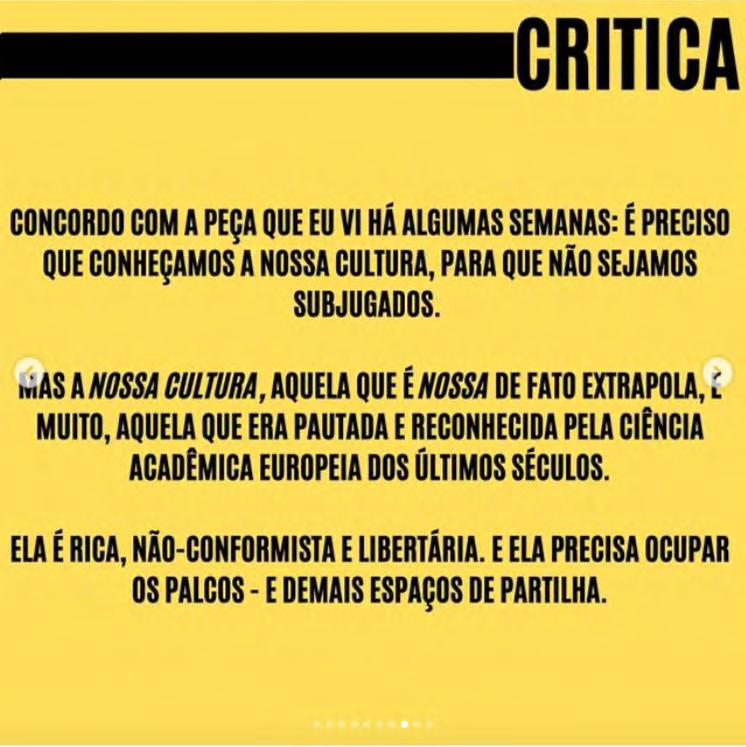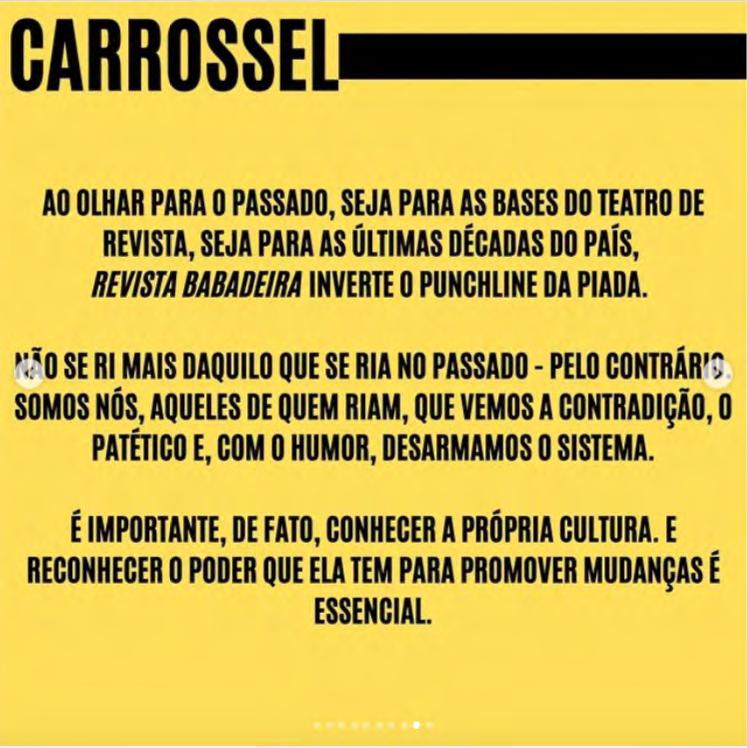1 #2 críticas jan—fev 23
O que é o Arquipélago
Nos últimos anos, observamos a diminuição de espaços e o consequente esvaziamento da crítica teatral em grandes veículos de imprensa. Ao mesmo tempo, há a emergência de plataformas online, desde sites e blogs até perfis em redes sociais, produzindo valorosas reflexões críticas em torno da produção teatral no país.
A internet possibilitou a multiplicação de vozes, construindo passo a passo um panorama mais diverso em torno da fruição, registro e análise da cena contemporânea.
Quase a totalidade de tais veículos, porém, trabalham de forma independente e muitas pessoas se colocam como voluntárias no exercício da escrita crítica; algumas fazem desta seara seu campo principal de atuação, enquanto outras seguem
3
desenvolvendo trabalhos em paralelo. A ausência de remuneração traz riscos para a continuidade da prática da crítica teatral a nível profissional, e a (pretensa) horizontalidade das redes também traz consigo desafios em torno da autoridade e da legitimidade da pessoa crítica.
Acreditamos que a crítica teatral é antes de tudo parceira da criação artística, sendo uma aliada no campo de disputa do simbólico e da produção de imaginários, especialmente em tempos de crise como os que vivemos. Desse modo, confiamos e apostamos na possibilidade de parcerias com artistas, grupos, produtoras e todas as partes envolvidas na complexa cadeia produtiva da cultura.
Assim, coletivamente lançamos o Projeto Arquipélago. Com o apoio da produtora Corpo Rastreado, seis veículos inicialmente passaram a receber um
4
aporte mensal para a publicação de duas críticas teatrais no escopo do projeto.
Somos: Cena Aberta, Farofa Crítica! Ruína Acesa, Satisfeita, Yolanda?, Tudo, Menos Uma Crítica e OFF Guia de Teatro.
Este segundo número, marca a entrada de uma outra plataforma de crítica, o Horizonte da Cena. Esse movimento de agregação de novos veículos reflete o nosso desejo de amplificar os investimentos para que assim mais casas críticas possam ser também contempladas
Neste momento de nascimento, da emergência destas ilhas em rede, pensamos ser fundamental sermos também transparentes: ainda que a verba para a viabilização do projeto venha da Corpo Rastreado, não se trata de uma filiação dos veículos à produtora, de modo que todas as pessoas participantes
5
seguirão seus próprios critérios e desejos na escolha das obras que terão críticas publicadas dentro do Projeto Arquipélago. Os textos aqui presentes expressam uma rica diversidade de pontos de vista, formatos, estilos e modos de conceber o exercício crítico. Nesse sentido, a despeito das suas instabilidades estruturais, as críticas teatrais contemporâneas exibem fôlego renovado para pensar a cena, se implicar nos seus movimentos e experimentar possibilidades outras de testemunhar reflexivamente os nossos tempos.
Boa leitura!
6
7

Farofa Crítica!
Diogo Spinelli e Heloísa Sousa são os editores dessa plataforma, que recebe colaborações pontuais de outros artistas, pesquisadores e críticos, na busca de estabelecer um diálogo constante entre os artistas, as obras e o público potiguar. Em 2021, acontece o lançamento da Revista Farofa Crítica, uma publicação periódica semestral com textos diversos organizados em dossiês, sobre criações, pesquisas e elaboração nas artes cênicas e visuais, com ênfase na Região Nordeste.
O site Farofa Crítica conta ainda com a colaboração dos profissionais Gilberto Galindo e Gabriela Pacheco na criação do site, do layout e da identidade visual.
9

Ubu: O que é bom tem que continuar
 Foto: Damião Paz
Foto: Damião Paz
Por que Ubu?
Por Heloísa Sousa
Em janeiro de 2023, duas apresentações da peça teatral “Ubu: O que é bom tem que continuar” realizadas no Tecesol, abrem a temporada do teatro natalense deste ano. A peça dirigida por Fernando Yamamoto e com Rodrigo Bico, Paula Queiroz, Caju Dantas, Diogo Spinelli e Déborah Custódio no elenco, é uma parceria entre três grupos da cidade: Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas, Mutretas e Outras Histórias e Grupo Asavessa.
O Clowns de Shakespeare, um dos grupos de teatro profissional ativo mais antigos do Rio Grande do Norte, vem de uma tradição de se associar a diferentes diretores teatrais para compor os espetáculos de seu repertório. Recentemente, Fernando Yamamoto, vem assumindo a direção do grupo com mais frequência, como em “O Capitão e a Sereia” (2009), “Tubos de Ensaio” (2018) e “Fronte[i]ra | Fracas[s]o” (2022). Se por um lado, a associação com diversos diretores constrói uma versatilidade nos atores e atrizes do grupo e uma expansão na sua visibilidade, por outro, recai em uma fragilidade da construção identitária do coletivo quando se percebe sem a possibilidade dessas associações (Diogo Spinelli, um de seus integrantes, analisa esse percurso e suas implicações na pesquisa “O teatro de grupo e a relação com encenadores convidados na formação,
12
profissionalização e manutenção do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare” UNESP, 2016). Dessa forma, a parceria com outros dois grupos para a criação de seu novo espetáculo é uma escolha que faz parte do seu modus operandi e, ao mesmo tempo, revela uma estratégia de resistência do teatro de grupo natalense ao tentar manter sua produção mesmo sem nenhum tipo de incentivo financeiro privado ou público e ainda diante de certa crise do teatro de grupo no Brasil.
A escolha pela montagem do texto teatral “Ubu Rei” parece óbvia se observarmos a atual conjuntura política do Brasil com a ascensão da extrema direita e a consolidação do Bolsonarismo. Mesmo com a eleição do atual presidente Luís Inácio Lula da Silva, ainda estamos vivendo as consequências do projeto fascista e genocida que o antecedeu, assim como não deixamos de estar convivendo com uma massa de apoiadores e articuladores dos golpes fomentados pelo antigo governo. “Ubu Rei ou Os Poloneses” é uma dramaturgia escrita pelo francês Alfred Jarry e apresentada pela primeira vez, na França, em 1896, quando o autor tinha, então, 23 anos de idade. A peça original é uma construção satírica sobre figuras políticas autoritárias, onde Jarry delineia uma estética grotesca tornando-se importante representante desse formato. Em uma Europa marcada por encenações naturalistas e observando crescer a guinada simbolista com alguns autores e encenadores, Jarry cria uma encenação
13
impactante ao mostrar o autoritarismo e a corrupção com uma linguagem escrachada, com exagero visual e acumulando todas as atrocidades possíveis nas mesmas personagens a fim de desmoralizar certas figuras políticas. A peça, nitidamente, recupera a história de “Macbeth” escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare em 1606; na proposta de Jarry, Pai Ubu prepara um golpe contra o Rei da Polônia a fim de tomar seu lugar. Com apoio da Mãe Ubu e de alguns outros serviçais, ele instaura um governo corrupto, violento e imoral e resiste contra as tentativas de queda até o limite de ver sua vida ameaçada.
Na versão dirigida por Yamamoto, algumas adaptações trazem o Pai Ubu para um contexto menos monárquico e mais atualizado, com cenas de um plebiscito ou com roupas mais burguesas e contemporâneas. A peça é um espetáculo de rua, com uma configuração circular e uma cenografia simples e articulável, acompanhado de uma variação de objetos menores e manipulados para criar imagens e outros espaços na cena. A imaginação do público é solicitada continuamente, como em uma prática teatral artesanal onde o faz-de-conta elabora um jogo de comunhão com o espectador. Vemos os espaços surgirem e se transformarem diante do nosso olhar, estimulados pelo modo como os corpos se movem, se sentam ou interagem. Se o uso dinâmico dos objetos compõe a magia teatral da obra, nesse caso, ela também revela um pensamento
14
cenográfico mais pautado nas condições econômicas da produção teatral natalense do que em uma pesquisa sobre formas de recriar o espaço de acordo com o conceito proposto pela encenação.
Se nessa obra, as imagens propostas pela cenografia são secundárias, é porque a peça apoia sua experiência cênica no elenco. O jogo entre os atores e as atrizes determinam o ritmo da peça, instauram as personagens pela corporalidade do elenco e tornam a apreensão da narrativa o foco da obra. A grande sacada da dramaturgia escrita por Alfred Jarry em sua época, foi a opção por delinear essa estética grotesca, as primeiras montagens da obra sugerem um Ubu com barriga imensa, uma espiral desenhada no centro e uma cara horrenda. A personagem faz merda constantemente e tem uma oratória totalmente desarticulada e descompromissada com qualquer viés político, apesar de ainda assim ocupar o posto mais alto dessa hierarquia. Na versão dirigida por Yamamoto, a caricatura parece ser uma estratégia de atuação adotada; mas esta não se faz pelas aparências corporais (como é comum em montagens de Ubu Rei), mas sim pela corporalidade, recorrendo a um modo caricato, exagerado e desconcertado de atuar que nos aproxima de abordagens clownescas ou do teatro popular e de rua. Essa escolha abre mais espaço de trabalho para o elenco. Paula Queiroz atua uma Mãe Ubu com maestria de variações entre a seriedade e o exagero em uma de suas atuações mais expressivas.
15
Sua Mãe Ubu é visivelmente mais sádica do que a original, se aproximando mais da Lady Macbeth do que da versão proposta por Jarry; propondo uma figura feminina com maior atuação na articulação política violenta do protagonista. Em contrapartida, o Pai Ubu de Rodrigo Bico parece mais “simpático” do que o original, uma versão não apenas violenta, mas também estúpida e em certa medida, carente e com muito receio de perder seu posto. Essa escolha de encenação faz o espectador ter mais abjeção pelo sistema armado para manter Pai Ubu no poder, do que exclusivamente pela personagem em si. Quase como se ele fosse um articulador equivocado de tudo, que não tem tanta perspicácia quanto parece. Diogo Spinelli faz dupla com Déborah Custódio e atuam serviçais do Rei que o auxiliam em seus projetos deturpados, ao mesmo tempo em que cobram suas parcelas de recompensa pelo trabalho corrupto.
Destaco aqui, o trabalho de atuação de Caju Dantas que interpreta o Rei deposto no início da peça. Um ator jovem contracenando com um dos atores mais experientes da cidade em uma disputa velada pelo trono, interpretando personagens, possivelmente, com idades invertidas. Caju consegue construir a presença do Rei em um momento curto da encenação, com destaque suficiente para que sua queda seja notória como um golpe de Estado e não apenas um assassinato. Em seguida, o ator assume uma sequência de papéis terciários que servem a encenação, mantendo caricaturas singulares para
16
cada uma, marcando suas presenças na memória do público, sem disputar protagonismo. Reitero que um dos aspectos mais interessantes desse trabalho teatral seja a possibilidade de três atores e duas atrizes variarem entre diversos personagens em uma peça longa, com o desafio de construir muita transformação espacial e temporal em cena; sem que se perca o arco narrativo do Pai Ubu.
Talvez, a principal questão aqui seja analisar a dramaturgia original de Ubu Rei, a adaptação feita pelos grupos e a escolha, específica, pela montagem desse texto e sua inserção na ideia de um teatro político.
O sociólogo francês Michel Foucault escreveu um texto curto intitulado “Terror Ubuesco”, publicado junto com a tradução da peça feita por Bárbara e Gregório Duvivier e lançado em 2021, no Brasil. Foucault sugere o termo ubuesco como sinônimo de grotesco, pensando em uma estética de terror que maximiza “os efeitos do poder a partir da desqualificação de quem os produz”. O pesquisador identifica essa abordagem não somente como um efeito teatral, mas como algo produzido dentro da própria máquina política real; a figura horrenda, abjeta, violenta, escrachada e ridícula é fundamental para criação de uma “soberania arbitrária”. Ao delinear esse grotesco na política na forma teatral, Foucault identifica que Jarry poderia almejar o seguinte objetivo:
17
“Mostrando explicitamente o poder como abjeto, infame, ubuesco ou simplesmente ridículo, não se trata, creio, de limitar seus efeitos e descoroar magicamente aquele a quem é dada a coroa. Parece-me que se trata, ao contrário, de manifestar da forma mais patente a incontornabilidade, a inevitabilidade do poder, que pode precisamente funcionar com todo o seu rigor e na ponta extrema da sua racionalidade violenta, mesmo quando está nas mãos de alguém efetivamente desqualificado”.
Se a peça tem alguma temática política, não é possível evitar que o público faça associações diretas com o contexto atual que ele esteja vivendo. Afinal, a análise de conjunturas políticas servem sempre para reorganizar nosso olhar sobre o que está acontecendo no momento presente. Dessa forma, mesmo que a peça não apresente nenhuma citação direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer citação a uma figura de poder autoritária irá nos fazer lembrar dele. A questão é que, as atuais figuras políticas fascistas, em especial as que estão associadas à família Bolsonaro, apesar de parecerem ainda carregar aspectos grotescos, há, concomitantemente, toda uma construção estética limpa e padronizada em suas figuras que sustentam as narrativas de homens religiosos e de família. A desqualificação de Jair Bolsonaro para assumir a presidência do país é visível e risível quando olhamos para sua trajetória, mas o que o elege não é a imagem bufonesca dele e a tentativa de ridicularizar mais ainda os poderes
18
políticos brasileiros com algum tipo de “voto de protesto” (discurso comum de alguns cidadãos brasileiros, quando elegeram o palhaço Tiririca como deputado federal, por exemplo). O que o elege é a aceitação da imagem de um homem “de bem”, da família, conservador e religioso; mesmo que, contraditoriamente, esse homem defenda o porte de armas, dê declarações preconceituosas e apoie a ditadura militar. O que é veiculado como ridículo nessa figura, não tem o efeito da abjeção em muitos de seus defensores, mas sim o efeito da empatia (“é gente como a gente”). O contorno que se elabora é outro, basta olhar a assepsia da imagem do casal Eduardo e Heloísa Bolsonaro, filho e nora do ex-presidente, e que também são figuras políticas fortemente ativas no cenário de ascensão da extrema direita do país. Ou ainda, se pensarmos mais à frente e formos analisar a expectativa que tem se construído sobre a imagem de uma figura de direita como Simone Tebet. O terror que o Brasil vive com o Bolsonarismo, em termos das aparências veiculadas, é uma mistura do terror ubuesco com o padrão estético das novelas de Manoel Carlos. Dessa forma, será que Ubu Rei ainda representa as figuras autoritárias que se constroem no século XXI? Ainda mais se considerarmos que o ato vanguardista de Jarry está mais na estética grotesca desenhada do que somente na narrativa da figura (que, por sinal, já é repetição de uma antiga dramaturgia).
O que delineia essa estética são as imagens, como
19
quando veiculam em meios de comunicação fotos de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, com o rosto fortemente alaranjado ou ainda a foto de Bolsonaro tentando colocar uma máscara descartável com menos habilidade que uma criança. Mas, essa produção de imagens também é ferramenta da direita, como estratégia de ridicularização quando se veiculam fotos do presidente Lula bebendo ou preso, ou ainda da ex-presidente Dilma Rousseff com expressões faciais desfavoráveis. Na realidade, se observarmos os estudos do pesquisador José Cezar Castro Rocha (UFRJ), autor do livro “Guerra Cultura e Retórica do Ódio” (2021), perceberemos que a desqualificação constante é estratégia da direita para criar um falso posicionamento político em seus articuladores e seguidores que torna a política em si inoperante.
Meu ponto é que, essa forma ubuesca de representar as figuras autoritárias não revelam algo a mais sobre elas, como foi em 1896, quando Jarry fez uma atuação dessas subir aos palcos franceses com ineditismo. Em nosso caso, no Brasil de 2023, a forma ubuesca reitera a nossa visão (de esquerda) sobre a coisa. E daí, a possibilidade de um teatro político retorna a uma proposta narcisista como escrevi na crítica ao espetáculo “Dr. Anti” da Cia. Extemporânea (SP). Mas, após ver em cena aquilo que eu já pensava, ainda ficamos com a questão: como se desarticula esse sistema autoritário para além da deposição da figura emblemática dele? Como podemos ver nossos
20
Pais Ubus como grotescos, enquanto uma parte considerável da população o percebe como Messias?
Que distorção estética é essa que se opera, sendo possível visões antagônicas sobre a mesma figura?
Outra questão que me parece perceptível na dramaturgia é a ausência da representação do povo e suas possibilidades de revolta, com o mesmo nível de complexidade com que se representa os tiranos e seus apoiadores políticos. Essa ausência é notável tanto em Macbeth, quanto no Ubu Rei de Alfred Jarry, quanto nesta versão em questão. Lembremos que foi a revolta popular que cortou as cabeças da rainha francesa Maria Antonieta e do rei Luís XVI; assim como, revoltas populares marcaram os movimentos de esquerda do Brasil desde o início da República e foi a organização popular que conseguiu superar a maior máquina de estelionato já produzida na história do nosso país durante as eleições de 2022 para tentar reeleger Jair Bolsonaro. É também projeto da direita política tentar enfraquecer os movimentos de rua e tomá-los para si (observemos a invasão do Congresso Nacional por bolsonaristas poucas semanas atrás); combinada com um discurso de alguns agentes da esquerda de que tudo deve se resolver entre as instituições e as forças de segurança do país. Mesmo o plebiscito apresentado na peça “Ubu”, ainda sendo uma prática orquestrada pelas instituições e legitimada como único exercício democrático possível ao povo, mesmo essa é derrotada na peça. O povo parece
21
não ter absolutamente nenhuma chance contra as autoridades.
Fico com algumas perguntas ecoando…
Quem nos representa em cena?
E como nos representa?
Como somos capazes de nos ver dentro do jogo teatral, com viés político?
Em “Ubu”, o novo rei veste uma coroa de bananas, em alusão à ideia da “República das Bananas”. Esse termo pejorativo foi criado por um humorista norteamericano para se referir a países subdesenvolvidos da América Latina. Questiono essa escolha porque parece que a peça reflete a nós mesmos como uma comunidade incapaz de outras coisas além da exploração; mesmo que a cena final tente nos alertar em sermos diferentes da imagem construída, o que temos diante de nós é a afirmação simbólica durante todo o espetáculo, de um povo passivo e reduzido a alguma monocultura ou estereótipo tropical.
As semelhanças entre as dramaturgias já escritas sobre figuras autoritárias, como Macbeth e Ubu Rei, com os políticos de direita e extrema direita que retornaram ao poder em alguns países do continente americano e da Europa, são, de fato, impressionantes. A idiotia, o desespero, o sadismo delineiam figuras
22
reais e nos fazem vislumbrar as narrativas já contadas em textos muito antigos, como uma repetição insistente da história.
Mas, o que pode o teatro diante da atual situação política do país? O que pode o teatro quando as redes sociais já produzem, diariamente, centenas de frames teatrais que releem a realidade, inclusive por uma ótica ubuesca? O teatro conseguiria, para além da exposição de um retrato da realidade, evidenciar a articulação complexa de um sistema/ figura, sua transformação e composição? Não apenas representar um golpe em cena, como um fato; mas expor, analiticamente, sua estruturação.
Janeiro / 2023
23

Ubu Rei
 Foto: Stephanie Lauria
Foto: Stephanie Lauria
Por que Ubu?
Por Heloísa Sousa
Em janeiro de 2023, o teatro do SESC Consolaç ã o, em S ã o Paulo, recebe uma temporada de apresentações do espetáculo “Ubu Rei” com o grupo Os Geraldos (SP) e direç ã o de Gabriel Villela (MG). O espetáculo foi criado durante o ano de 2022, e traz em cena a vers ã o traduzida por Bárbara e Gregório Duvivier em uma ediç ã o premiada e publicada pela Ubu Editora. Os próprios tradutores dizem em nota que as semelhanças entre Ubu Rei e os últimos acontecimentos políticos no Brasil s ã o evidentes, mesmo que o original tenha sido escrito pelo francês Alfred Jarry e montado no final do século XIX. Ubu Rei, que em si já é uma vers ã o de “Macbeth” de William Shakespeare, narra a ascens ã o de um déspota ridículo que sobe ao trono através de um golpe onde assassina o rei com ajuda de alguns aliados. Pai Ubu n ã o faz isso dissociado de sua família. Assim como em Macbeth, a personagem central feminina - M ã e Ubu (e Lady Macbeth, na vers ã o shakespeariana) unida matrimonialmente ao protagonista, é t ã o ardilosa e responsável pelo golpe quanto ele. Em paralelo, é comum vermos a ascens ã o da extrema direita ao poder no Brasil e seu slogan “Deus, pátria e família”, de origem fascista, como uma repetiç ã o verídica de dramaturgias escritas outroras e que já revelavam esquemas golpistas e autoritários desde as monarquias, em contextos europeus.
26
Esse texto que escrevo pode servir como continuaç ã o de outra crítica já publicada neste site sobre o espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar” do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas, Mutretas e Outras Histórias e Grupo Asavessa (RN). Na crítica anterior, busco problematizar a escolha pela montagem da dramaturgia “Ubu Rei” de Alfred Jarry, para pensarmos se ela, de fato, ainda representa as figuras autoritárias do nosso século.
Na versão dirigida por Gabriel Villela, o texto e a narrativa s ã o mantidos, em sua maior parte, como na traduç ã o original dos Duvivier. O que observamos é uma estética já característica do encenador mineiro, onde cenário e figurinos ganham muita expressividade dramática, tanto pela feitura e técnica, quanto pela mistura de diversas referências culturais que criam uma imagem com muitas simbologias e texturas. Buscando seguir a lógica grotesca que foi desenhada por Jarry em sua dramaturgia, Villela opta pelo exagero das aparências corporais, pelas ridicularizações, pelas construç ã o cômica constante e por marcar alguns pontos da peça com citações diretas ao cenário político atual brasileiro e suas figuras emblemáticas.
Entretanto, apesar da peça parecer expor uma vis ã o crítica sobre o autoritarismo, sugerindo a possibilidade de debochar dessa realidade e observar o teatro encantar uma ficç ã o que reverbera
27
diretamente no nosso contexto; o que a peça finda por criar é uma percepç ã o reduzida disso, cujo riso desarma a indignaç ã o e sugere ao público distanciamento e passividade diante do que é apresentado.
Algumas escolhas para a cena nesta vers ã o de “Ubu Rei” podem ser questionadas se observarmos o compromisso que a peça assume em nos fazer rever a realidade, como é destrinchado em seu programa.
Por que a sátira apresentada tem tantos contornos femininos? As saias nos atores e atrizes, as vozes agudas, os trejeitos, os seios expostos como imagens orgiásticas marcam a obra; e com isso, não quero dizer que existe, de fato, ações e aparências restritas a algo “naturalmente feminino”, mas sim, que a performance de gênero se apoia em determinados códigos que quando lidos organizam a percepç ã o do espectador na lógica binária. Quando um tirano como Jair Bolsonaro apresenta sua lista de ministros, o mais comum e o que mais fere é a presença maciça de homens brancos cis engravatados e austeros, performando suas masculinidades, suas seriedades, suas violências intransigentes e citando descaradamente a delirante potência de seus falos, nunca expostos organicamente, mas sempre simbolizados pelas armas empunhadas. Afeminar essas figuras ainda é uma maneira de desarticulálas? Seria possível ridicularizá-las dentro da própria armaç ã o hipermasculinizada, que nunca foi própria
28
de uma “natureza”, mas apenas uma performance da virilidade como estratégia de poder?
Para além dessa forma em tratar a comicidade, onde as lógicas sexuais e de gênero ainda parecem servir como maneira de ridicularizar as figuras, também existe uma operaç ã o memética na obra que parece misturar algumas imagens de modo questionável. O personagem Bostadura, um dos aliados do Pai Ubu no golpe contra o Rei da Polônia e muito bem interpretado pelo ator Railan Andrade - que ganha um destaque considerável na peça, aparece com voz e expressões semelhantes à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em determinado momento da peça, ao tentar aliança com uma Czarina e depois retornar à parceria com Pai Ubu, Bostadura perde um dedo e passa a imitar a voz do atual presidente Luís Inácio Lula da Silva. Articular duas figuras políticas na mesma personagem cria a leitura de equivalência entre elas, as vozes mudam, mas a personalidade permanece e a aliança com a tirania também. Sugerir um imaginário que aproxima as figuras políticas de Jair Bolsonaro e Luís Inácio Lula da Silva, quase reiterando a fala daqueles que defendem uma “terceira via” por compreenderem as duas figuras citadas como extremos equivalentes, é uma leitura completamente equivocada do nosso cenário político. Um governo genocida e fascista de extrema direita n ã o pode ser tomado como equivalente a um governo democrático de esquerda; se esta analogia está sendo feita, é porque
29
desconsidera-se a discuss ã o das pautas políticas de cada governo e observa-se apenas a veiculaç ã o midiática de seus representantes.
Essa colagem de imagens reconhecíveis dentro de pequenos espaços abertos na dramaturgia por uma fala, um gesto ou uma situaç ã o, parece reproduzir a lógica de feitura dos memes. Em uma sociedade marcada pelo uso exacerbado de redes sociais, o compartilhamento de memes torna-se n ã o apenas lugar de express ã o, mas marca formas de produç ã o e leitura das imagens contemporâneas. O que faz os memes funcionarem bem é a rapidez com que conseguimos lê-lo, quando mistura imagens reconhecidas na criaç ã o de uma terceira que pareceria crítica às anteriores. O riso alcançado é quase imediato e a sensaç ã o de identificaç ã o gera certo conforto na interaç ã o com o leitor/espectador. A quest ã o é que essa lógica, que parece se repetir como estratégia de cena no “Ubu Rei” de Villela, mistura imagens que n ã o s ã o equivalentes e criam um terceiro cenário que é enunciado como uma conclus ã o coerente, mas é apenas uma mistura para o riso. Como quando a Czarina se apresenta como Zambelli (em alus ã o à deputada federal Carla Zambelli) ao empunhar uma arma para o Pai Ubu, como se estivesse disputando com ele. Zambelli foi uma das apoiadoras de Jair Bolsonaro e, acusada de porte ilegal de arma, além do seu uso contra civis em ruas de S ã o Paulo. Qual o sentido dessa figura se colocar contra o protagonista tirano da peça, se
30
ela sim é equivalente a ele? Em termos discursivos parece n ã o haver muito paralelo, somente a imagem da mulher com a arma em m ã os que cria essa analogia.
O que eu reitero nas análises sobre as montagens atuais de “Ubu Rei” é uma atenç ã o sobre a escolha do texto e uma busca por compreender a aç ã o estética que Jarry provocou em seu tempo. Se atentarmos apenas para a explanaç ã o da narrativa que ele conta, corre-se o risco de criar uma reconstruç ã o histórica e saudosista da peça, reproduzindo a forma de encenar proposta pelo artista, ao invés de propor a partir de seu gesto. Se Jarry foi inovador ao apresentar uma estética grotesca no meio de diversas encenações francesas naturalista e próximo da ascens ã o do simbolismo na Europa, o que seria o grotesco da nossa atualidade? Ao reencenar um texto antigo ou o movimento de encenaç ã o de algum artista anterior que marcou seu tempo, ao invés de reproduzir sua estratégia, podemos observá-la de perto e identificar como realizar o mesmo gesto no nosso tempo.
Localiza-se a encenaç ã o dentro da ideia de patafísica, termo cunhado pelo autor de “Ubu Rei” que, segundo o programa distribuído na entrada do teatro, “Trata-se das ciências das soluções imaginárias, criada por Jarry para presentear a humanidade com uma chave de pensamento que lhe permita rir de governantes, procuradores,
31
juízes, financistas, nobres. Um riso que nos faça acordar para o pensamento, com complexidades e dialéticas capazes de superar polarizações e maniqueísmos baratos”. A política de direita, em muito se assemelha às estratégias capitalistas de captura de ações que parecem contrárias a ela para poder fortalecê-las. Ridicularizar todas as figuras políticas e outras autoridades já tornou-se artifício da extrema direita que se aproveita da insatisfaç ã o coletiva do povo brasileiro, em termos sociais e econômicos, para descredibilizar qualquer agenda política em favor de seus representantes. O que representa a invas ã o na Praça dos Três Poderes em Brasília, em janeiro de 2023, se n ã o uma ato grotesco de diluiç ã o simbólica das instituições ali organizadas, e portanto, do próprio sistema democrático?
Representar figuras autoritárias como risíveis e zombáveis, sendo essas mesmas responsáveis por projetos genocidas, n ã o possui mais a mesma força simbólica que foi possível na França de Jarry em 1896. E ao contrário do que se parece, somente reforça uma interpretaç ã o maniqueísta da realidade, determinando vilanias dentro do sistema político e encerrando as discussões a partir dessa constataç ã o.
Janeiro / 2023
32
33

Parque Industrial
 Foto: Jennifer Glass
Foto: Jennifer Glass
Por onde andava Pagu?
Por Heloísa Sousa
“O capitalismo nascente de São Paulo estica as pernas feudais e peludas. Descreve a mais-valia, arrancada por meia-dúzia de grossos papa níqueis, da população global dos trabalhadores do Estado, através do sugadouro do Parque Industrial em aliança com a exploração feudal da Agricultura, sob a ditadura bancária do Imperialismo”. (Trecho do livro “Parque Industrial: Romance Proletário” de Mara Lobo / Patrícia Galvão).
Em fevereiro de 2023, a Oficina Cultural Oswald de Andrade (SP) recebe a temporada gratuita de “Parque Industrial”, um espetáculo dirigido por Gilka Verana que também assina a adaptação deste, que é um livro lançado por Patrícia Galvão (Pagu) em 1933, sob o pseudônimo de Mara Lobo. A peça traz em cena um elenco com sete atrizes, além de outras mulheres artistas profissionais compondo cenografia, iluminação, projeção e direção musical que também jogam em cena e em tempo real.
A primeira questão relevante sobre esta peça é a escolha da encenadora em trazer ao teatro uma obra da icônica Pagu. Figura constantemente invisibilizada dentro da arte e da política, Pagu foi diretora de teatro, tradutora, militante, ativista e agitadora político-cultural, ainda no início do século XX. Tem sua
36
trajetória marcada por ineditismos e posicionamentos enfáticos, tendo sido a primeira mulher presa política no Brasil, além de ter tido envolvimento ativo no Movimento Antropofágico que marca o Modernismo Brasileiro. Declaradamente comunista, desde jovem, Pagu reivindicava sua voz no teatro, na literatura e na política, embora, ainda hoje, seja um nome muito pouco citado quando o assunto é teatro político brasileiro, feminismo e cultura, mulheres encenadoras e outras tantas temáticas onde ela poderia ser referenciada. Seu constante apagamento só não é mais notável e sublinhado pelo recorte de gênero, porque outros artistas e pensadores como Augusto Boal também não recebem a devida atenção nos espaços de formação e discussão sobre teatro no Brasil. Em 2022, passamos pelo centenário da Semana de Arte Moderna (movimento, por si só, contraditório em muitas camadas políticas e culturais) e percebe-se algumas iniciativas muito pontuais na tentativa de trazer Pagu de volta ao centro para se pensar esse momento histórico.
Debruçar-se sobre Pagu é deparar-se também com sua opacidade. Neste caso, o movimento não é de um “resgate histórico” e muito menos de uma “homenagem” à artista, mas sim de uma reativação de seu gesto artístico, de uma reinterpretação de suas linhas e reorganização material do que ela havia pensado. “Parque Industrial” foi um romance escrito quando Pagu tinha apenas 21 anos de idade e, também por isso, carrega muito de um impulso jovial e experimental
37
da artista. Assistir a peça “Parque Industrial” nos impulsiona nesse reencontro com a artista e com a obra. Pagu escreve um romance de força atemporal, com uma linguagem subversiva e descrições críticas sobre o sistema capitalista e a luta de classes; tem-se uma obra literária com um ritmo peculiar e com um abordagem radicalmente de esquerda; e isso, Gilka Verana soube perceber muito bem ao trazer essa obra ao palco.
O livro escrito por Pagu é um enfrentamento direto ao discurso moralista e à burguesia paulistana em ascensão; uma resposta rápida e certeira ao hiperdesenvolvimento de São Paulo no início do século XX, a maior cidade do país crescendo vertiginosamente em cima da miséria, da exploração e da desigualdade entre o povo brasileiro (uma realidade que não mudou muito, não é mesmo?). A hipocrisia e a riqueza predatória é o terreno que apoia a industrialização de São Paulo. Sob uma perspectiva marxista-leninista, Pagu engata um romance-denúncia que instiga a possibilidade de um povo tomando consciência de si enquanto classe e enquanto possibilidade de reforma. O livro é também desafiador pela sua forma, escrito em um fluxo intenso e ritmado que cria um cruzamento entre a prosa e a poesia; Pagu parece estar se importando pouco com alguma narrativa articulada ou envolvimento catártico com as personagens. Se a denúncia é mais evidente, ela opta por palavras substantivas ou adjetivas ordenadas que criam uma paisagem sensorial e crítica. A
38
autora desenha também uma burguesia caricata, imoral, cheia de vícios e desejos pela exploração; mas esse desenho é debochado. E não um deboche que sugere o riso, mas um deboche sério e agressivo na sua forma de ridicularizar. É esse tom que Gilka captura para conseguir encenar a versão teatral de “Parque Industrial”, percebendo com assertividade e sensibilidade o gesto político e feminista de Pagu; seguido pela versatilidade com a qual as atrizes em cena dão conta desse contorno estético, transitando entre narradoras, comentadoras e jogadoras das cenas.
E esse é o outro ponto mais notório dessa peça, o quanto a diretora consegue se aproximar de Pagu e criar uma ponte certeira entre a autora, o grupo de mulheres que encenam essa obra e o cenário do teatro político brasileiro no século XXI. Estamos diante de uma adaptação que evidencia o pensamento e articulação política de Pagu através da arte e não vacila nas visões moralistas sobre essa personalidade que a condena às narrativas em torno do seu gênero. Junto disso, parece evidente um movimento de observar novamente o passado para criar paralelos com o momento presente, como quem denuncia que estamos revivendo algo porque não assimilamos com criticidade e força suficientes as violências marcadas na história.
Uma das questões que aparece no livro “Parque Industrial” e que se torna central para o desenvolvimento da peça teatral de Verana é o foco no proletariado. Inspirada na luta e no discurso de Rosa
39
de Luxemburgo, ativista marxista alemã, as obras (livro e peça) se concentram na representação do povo e de suas formas de organização, evidenciando a luta de classes como sendo basilares para se pensar uma análise crítica das consequências do desenvolvimento do capitalismo em países de terceiro mundo. Pagu faz então um outro recorte, ainda mais radical, ao pensar o proletariado feminino e todas as peculiaridades sofridas por mulheres operárias em razão de seu gênero.
Mas, ao invés de ser apenas uma panfletagem feminista rasa, as obras mostram a indissociabilidade entre o capitalismo, o patriarcado e o racismo; estruturas e narrativas que se apoiam uma na outra para fincar sua hegemonia e hierarquias entre os gêneros. Além disso, as obras ainda criticam o feminismo liberal e os equívocos de suas pautas que apenas privilegiam mulheres burguesas.
Das peças que tenho assistido recentemente com abordagem política e estreadas no atual contexto de ascensão da extrema direita no Brasil, em sua maioria opta-se por representar e criticar as figuras autoritárias, desde os políticos, aos militares, às classes mais altas e abastadas. Como por exemplo, “Verdade”, de Alexandre Dal Farra (SP), “Ubu: O que é bom tem que continuar” com direção de Fernando Yamamoto (RN), “Ubu Rei” com direção de Gabriel Villela (SP) e “Dr. Anti” da Cia Extemporânea (SP). Em “Parque Industrial”, o povo, finalmente, ganha representação e complexidade, as personagens de mulheres apresentam uma diversidade
40
de realidades a partir de camadas interseccionais que mostram formas distintas de vivências oprimidas. Mais ainda, mostra também a indignação, o cansaço e algumas formas de organização a partir da raiva, fazendo com que palavras como “comunismo”, “partido”, “revolta” e outras políticas de organização ecoem como derivadas do desejo do povo.
(Pagu)
Não há uma protagonista delineada na peça, as atrizes saltam entre diversas personagens e unem-se até para representar corpos específicos, a coletividade torna-se presente como estratégia de encenação e como discurso. Não é à toa, e nem inocentemente, que tenhamos que aguardar uma peça teatral dirigida por uma encenadora e baseada no livro de uma autora, duas mulheres, para ver a retomada da representação do povo no teatro que parecia estar, até então, ausente. Se a presença maciça de mulheres na equipe técnica do trabalho é reverberação da ótica feminista de representação desse proletariado, implica também nas narrativas e realidades que se constroem ao redor disso.
Na peça, ficamos diante não apenas da indignação e da organização dessas mulheres trabalhadoras contra a burguesia e os senhores do capitalismo, mas também nos deparamos com situações de suas vidas pessoais e de seus relacionamentos. Enquanto
41
“Não há indivíduo. São todos proletários!”
espectadora, as cenas que mostram apaixonamentos, amizades escolares entre garotas, maternidade e violências domésticas me incomodam por parecer que nós, mulheres, não conseguimos desviar nossas histórias desses enfoques (na cinebiografia de Marighella, dirigida por Wagner Moura, por exemplo, vemos muito pouco do desenvolvimento da história pessoal da figura; os homens consegue dedicar-se a política sem “desvios” afetivos e familiares). Por outro lado, algum breve momento de reflexão já é suficiente para lembrarmos que essa dissociação, no caso de mulheres trabalhadoras e/ou militantes, é quase impossível. As figuras femininas são constantemente interpeladas pelo seu gênero, seja pela necessidade de validação masculina, pela opressão machista, pela maternidade compulsória ou pelo contrato matrimonial. Mulheres são capturadas da atividade política para serem submissas às atividades domésticas e isso também constrói-se como uma estratégia do sistema capitalista e patriarcal. Logo, as personagens transitam freneticamente entre a revolta popular e a revolta doméstica.
No entanto, o que é certeiro no livro de Pagu é a forma como a autora torna evidente a equivalência entre as crises “pessoais” e as crises políticas dessas mulheres, mostrando que quaisquer “escolhas”, desde a maternidade até o matrimônio, atravessam diretamente a luta de classes e a opressão. E ela faz isso pela forma da linguagem, não se perdendo numa extensa narração ou descrição desses encontros
42
interpessoais. Talvez, nesse sentido, a encenação pareça conseguir fazer menos do que o livro, ao dar a ilusão de que Corina é um indivíduo com questões pessoais a lidar e portanto, que há uma protagonista na peça, ao invés de evidenciá-la como pura representação de uma classe. Mas, até mesmo essa crítica a faço com dúvidas. Será mesmo que vejo Corina como personagem em suas crises pessoais porque é assim que é mostrado ou porque nosso olhar massacrado pela lógica liberal percebe a vida de uma mulher como consequência unilateral de suas escolhas individuais?
É o dinheiro, um dos signos máximos do capitalismo, que determina como tal mulher irá viver e a quais afetos ela tem direito. Esse é um retrato cru da miséria das mulheres, assim como da mesquinharia da burguesia que algumas mulheres também participam. São as estruturas sociais, políticas e econômicas que determinam as subjetividades dessas mulheres. Pagu quer dar conta da variação dessas experiências subjetivas: as personagens se apaixonam, são enganadas, sofrem com o pai agressor, sofrem com o marido agressor, são traídas, são abandonadas, engravidam, abortam, são exploradas no trabalho, são assediadas, o sofrimento da mãe que não consegue alimentar o filho, a cidadã agredida pela polícia, e o desejo, a sexualidade, a prostituição.
“O pessoal é político e o político é pessoal”, frase que marca o movimento feminista já na década de 1960 é
43
uma frase que precisa estar na memória do espectador ao assistir “Parque Industrial”, sob o risco de distorcer a realidade apresentada em cena. Poderíamos dizer também que, no caso do proletariado feminino evidenciado nas obras, o político interdita o pessoal e o pessoal interdita o político. E essa interdição é um fato determinante. Não à toa, projeta-se em cena falas da ex-presidente Dilma Rousseff e da vereadora Marielle Franco, ambas interditadas em suas ações políticas, seja pela destituição do cargo ou por assassinato.
A dificuldade de uma mulher tornar-se uma figura reconhecidamente emblemática no cenário político é reforçada pela opressão nos espaços privados, pela interdição constante, pela invisibilização do seu pensamento e apagamento da sua memória. Isso aproxima Dilma Rousseff, Marielle Franco, Rosa de Luxemburgo, Patrícia Galvão, Gilka Verana e todas as outras mulheres artistas envolvidas nessa criação e muitas outras, assim como as personagens que elas interpretam. Não à toa, são elas também que tentam articular algum tipo de representação do proletariado, também invisibilizado quando se fala de política, ainda mais numa operação que tenta legitimar apenas as falas e ações institucionais e a recusa à organização do povo. Em contrapartida, observando os próprios contornos do teatro que vem se operando em São Paulo nos últimos cinco anos, são também as encenadoras mulheres que vem trazendo ao centro não apenas as discussões feministas e coletivizadas, mas também uma construção de imagens que variam em si fazendo
44
a teatralidade operar pela reorganização cênica constante dos elementos presentes no palco.
A falar da teatralidade da peça “Parque Industrial: Romance Proletário” é inevitável não citar a exatidão da cenografia e dos figurinos, ambos assinados por Silvana Marcondes que consegue evidenciar tais elementos como signos tanto da classe trabalhadora quanto da peça teatral, como um sistema repleto de engrenagens a serem jogadas a favor da experiência cênica. Em contrapartida, é justamente nas cores blocadas, nos objetos encaixados e na proliferação de elementos em jogo que a peça distancia-se de uma abordagem realista (estética tão bem articulada pelo teatro burguês), e parece tatear algum tipo de amadorismo. Há uma emotividade, um engajamento articulado em cena que parece convidar o público, constantemente, para algum tipo de empolgação catártica junto com uma verbalização política direta sem recorrer a nenhum virtuosismo. Se por um lado, essa abordagem pode causar algum tipo de estranhamento, por outro lado, se observarmos o teatro que Pagu buscava articular, essa aparência amadora é totalmente coerente. Expor uma realidade, equilibrando crueza e poeticidade, são evidentes no livro de Pagu e na encenação de Verana; porque existe uma urgência por essa exposição.
Talvez, a questão ainda não resolvida nesse teatro político seria justamente a representação mimética do conflito. Ocupa-se tanto tempo reproduzindo e denunciando uma sequência de sofrimentos coletivos
45
das personagens que culmina no retrato da revolta, sem delinear ao público um espaço para teatralizar as pautas políticas; embora essa lacuna esteja evidente no próprio romance escrito por Pagu. Perdese a oportunidade de discutir politicamente algumas questões minuciosas, de tornar evidente a forma como se articula um pensamento, uma contranarrativa, ou o próprio comunismo. “É impossível que os proletários não se revoltem”, escreveu Pagu junto com o alerta de que a luta é coletiva, e não individual, e portanto torna-se necessária a organização em partidos, movimentos e sindicatos. O povo é oprimido e portanto o povo se revolta, quase em uma resposta automática e agressiva. Mas, o povo também elabora pensamento, articula outras narrativas e consegue denunciar falácias que tentam justificar as opressões e explorações. O capitalismo se sustenta por fazer acreditar que determinada ideologia é coerente, causal e justificada do ponto de vista lógico e emocional; mesmo que pareça cruel, ele nos diz que não há outra forma possível. E o pensamento comunista se apoia justamente na desarticulação dessa lógica e de suas consequências emocionais, a revolta popular é o meio, a consciência de classe e transformação social é o fim.
Fevereiro / 2023
46
47

 Rabiola
Foto: Ligia Jardim
Rabiola
Foto: Ligia Jardim
Brincadeira de criança, como é bom!
Por Quemuel Costa
Desde 2016, uma vez por ano os Clowns de Shakespeare realizam o Laboratório da Cena, curso de duas semanas sediado em Natal/RN que reúne gente de todo o Brasil (e de fora dele também) para viver um processo que aproxima os participantes do modo de trabalho do grupo. O processo criativo é condensado em duas semanas e o resultado final é sempre aberto para o público. Em sua oitava edição, com a proposta de explorar as possibilidades de criação de obras para as infâncias e juventudes, o experimento final do Laboratório da Cena 2023 intitulado “Rabiola” teve sua única apresentação realizada a céu aberto em 04 de fevereiro na Cidade da Criança.
Assim que cheguei à Cidade da Criança fui recebido por dois participantes do Laboratório em um triciclo que perguntavam “é pro teatro?” e em caso de resposta afirmativa, nos indicavam caminhar até “avistar a rabiola”, onde se iniciaria o experimento. Já na primeira cena foi possível observar que o experimento, por ser criado e ensaiado em um período extremamente curto, trazia em sua fruição alguns ruídos e fragilidades: pela distância que eu estava e por acontecer a céu aberto com todo o barulho que um parque em pleno sábado pode ter, pouco ouvi da primeira cena, que era realizada somente por um ator e aparentemente se tratava de uma introdução com
50
indicações a respeito da obra. Me aproximei da “boca de cena” para ouvir melhor.
O experimento seguiu de maneira itinerante. Neste início passamos por três estações: na primeira, nos deparamos com trabalhadores que operavam de maneira mecânica e repetitiva, na segunda com adultos viciados em celular e internet e na última com outros adultos extremamente cansados. É interessante observar que apesar da escolha de fazer um teatro pensado primeiramente para crianças, as temáticas dessas três cenas que abrem o experimento são sobre os adultos e seus modos de viver. Aqui também já é estabelecido um pacto entre público e atores que se seguirá por toda a obra: a participação desse primeiro é primordial para que ela aconteça em seu máximo potencial. Para sorte e melhor fruição de todos, o pacto foi bem sucedido e as crianças ficaram na “primeira fila” da plateia e participaram ativamente de todas as interações propostas. Na última estação, a dos adultos cansados (um beijo, Byung-Chul Han), fomos recebidos por duas figuras muito peculiares e extremamente animadas que nos mostraram os adultos cansados como um guia turístico mostra bichos em um zoológico.
Aqui o jogo era o seguinte: o público recebia dois comandos para se relacionar com esses adultos e ver suas reações, podíamos gritar “sextou!” e ver esses adultos que estavam extremamente exaustos e deitados no chão se levantarem, dançarem e se
51
moverem de maneira extasiada ou pedirmos para eles brincarem conosco, o que os fazia voltar para o primeiro estado de cansaço e inércia. Aqui, diferente das duas estações anteriores, nas quais havia uma grade separando atores e público, não havia nada que impedisse a aproximação total entre ambos, o que gerou uma das imagens mais interessantes do experimento e que talvez condense uma de suas forças: as crianças literalmente entraram no espaço cênico (um gramado), se misturaram aos atores e passaram a compor a imagem que se formava, estabelecendo uma cena que radicaliza o convívio entre elenco e público.
A cena segue nessa proposta convivial, envolvendo cada vez mais o público. Uma das adultas cansadas é o ponto de ligação para a transição desse momento das estações para outro, no qual a narração ganha força e ficamos sabendo um pouco mais sobre essa personagem: é uma idosa que conta histórias, mas que está tão cansada que sempre dorme antes de terminá-las, o que muito aflige suas netas. As duas netas tiram a avó da estação dos adultos exaustos e a levam em um triciclo pelo Parque da Cidade. Em um determinado momento, uma das netas começa a contar que a avó, por ter demência e estar muito debilitada, passa a maior parte do tempo dormindo, mesmo com as inúmeras tentativas das netas de acordar e interagir com ela. E é aqui que mais uma vez somos convocados para a execução da cena, interferindo diretamente em sua forma: a neta
52
nos conta que a única maneira de acordar a avó é colocando músicas de tango para tocar, então nos pede que batamos com a mão direita no peito continuamente para criar o ritmo da música enquanto ela canta a letra. A cena é um dos momentos mais bonitos e sublimes do experimento, e ao mesmo tempo, um dos mais tristes: mesmo com as batidas no peito do público e com o canto da neta, a avó não reage mais. O triciclo desliza pela rua sem ninguém pedala-lo enquanto a avó segue dentro dele imóvel, se distanciando de nós enquanto nem mesmo todo o envolvimento do público pode resgatá-la da morte.
Contrastando fortemente com essa, inicia-se outra cena da qual pouco pude entender e absorver de sua narrativa. Há dois atores representando duas crianças, um menino e uma menina. O menino procura e grita por sua amiga chamada Maria. A cena ocorre no gramado do parque e envolve vários cataventos enfiados no chão. É interessante que a cena da avó e essa tenham ocorrido em sequência porque acabam condensando e exemplificando o contraste no acabamento e na fruição do experimento. Enquanto em uma cena eu pude ouvir e entender tudo muito bem, na outra, pela sua formatação, pouco pude ouvir do que os atores falavam, principalmente por ser em um gramado que era mais espaçoso e mais barulhento do que a rua para os pedestres onde aconteceu a cena anterior. O experimento oscila diversas vezes entre esses dois tipos de cena e fruição, algumas com maior “acabamento” e outras com mais
53
fragilidades e ruídos, o que se deve ao curto tempo em que são criadas e ensaiadas.
Apesar disso, a experiência geral do experimento não é prejudicada pelos momentos em que se relacionar com as cenas com menos acabamento se torna um pouco difícil, principalmente porque apesar dessas fragilidades o experimento encontra muita força na radicalização para a qual se lança no que diz respeito à interação com o público e experimentação das possibilidades de cena. Radicalizações essas que, pelo menos no nível que os experimentos dos Laboratórios das Cenas alcançam, não são tão frequentes na cena teatral natalense, nem mesmo nas obras mais recentes dos próprios Clowns de Shakespeare. Como exemplo da experimentação nas possibilidades de cena é possível citar a própria estrutura do experimento, que em sua sinopse afirma “como na composição de uma rabiola, que é formada por fragmentos de tecidos que permitem que a pipa ganhe voo, nosso resultado é composto de células que refletem sobre o fazer teatral para crianças” e traz diversas cenas que não necessariamente conversam entre si, muitas vezes se destoando e tendo um caráter independente, como a cena dos Vermes Infames, na qual uma banda punk rock formada por minhocas faz um pequeno show cantando músicas com fortes críticas aos humanos. Então, a ausência de busca por uma unidade dramatúrgica ou estética (exceção somente para as atuações, que acontecem sempre em um registro caricato e grotesco) possibilita ao
54
experimento trazer cenas muito diversas, peculiares e até mesmo inusitadas, como uma espécie de cardápio teatral com diferentes formatos de cena, o que também aumenta as possibilidades de relação dele com o público, uma vez que a cada momento somos convidados a conviver com propostas de cenas diferentes entre si.
Fevereiro / 2023
55

56
Horizonte da Cena
O Horizonte da Cena é um site de crítica de teatro criado em setembro de 2012 pelas críticas Luciana Romagnolli e Soraya Belusi, em Belo Horizonte. Atualmente, são editores Clóvis Domingos, Guilherme Diniz e Júlia Guimarães. Também atuam como críticos Ana Luísa Santos, Diogo Horta, Felipe Cordeiro, Marcos Alexandre, Soraya Martins e Victor Guimarães. Julia Guimarães e Diogo Horta editam o podcast do site desde 2020. A crítica como exercício de olhar e escrita sobre o mundo do teatro e o teatro do mundo; o crítico de teatro como um espectador interessado em afetar-se com o acontecimento teatral e problematizá-lo, colocando ideias em circulação para que encontrem outras, semelhantes ou distintas, sem assumir o papel de juiz ou carcereiro. Com essas premissas, o Horizonte da Cena abre-se à pluralidade de vozes dos seus colaboradores.
57

Engenho de histórias de Dona Passa
 Foto: Amanda Leite
Foto: Amanda Leite
Um vaga-lume no meio da noite
Crítica a partir do espetáculo Engenho de histórias de Dona Passa, apresentado por Renata Ferreira na programação da ALDEIA JIQUITAIA – MOSTRA CULTURAL DO SESC TOCANTINS em 23 de novembro de 2022 na cidade de Gurupi/TO.
Por Clóvis Domingos
Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpidíssimo com recém-feitas estrelas.
Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo pra mim, anteparo para o que foi um acometimento: súbito é bom ter um corpo pra rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser.
(Momento. Adélia Prado)
60
Adentrar no engenho de histórias de Dona Passa é vivenciar uma experiência fantasmática. Destaco nesse solo da atriz Renata Ferreira a iluminação com seu tom sépia que nos convida a testemunhar algo do campo do inacreditável: é como se de uma fotografia muito antiga saltasse do papel envelhecido uma figura com voz, movimento, presença e vida. Uma espécie de aparição que nos rouba o sossego, causa estranhamento e familiaridade, uma sensação de estarmos diante de alguém que conhecemos, como se nossas avós ali estivessem encarnadas. Dona Passa metaforiza o arquétipo coletivo das nossas anciãs com suas rezas, conselhos, provérbios, ladainhas e causos. Nesse espetáculo de alta voltagem mítica e emocional construímos juntos um engenho das memórias.
A encenação é minimalista e confidencial e o foco recai na atuação precisa e minuciosa da intérprete que, através dos recursos de mímesis corpórea, diante de nós se transforma numa mulher cujo tempo do corpo passou, mas a imaginação não passa, resiste. A construção da personagem em cena revela a capacidade que o artista de teatro tem de se tornar outro e fabular mundos diferentes e impensáveis. Pelo exercício da ficção podemos por alguns momentos descansar de nossas identificações e experimentarmos nos vestir com outras narrativas. Renata Ferreira utiliza um dispositivo poderoso e que depois produz o efeito desejado: primeiro temos a entrada no palco de uma mulher jovem usando sua roupa cotidiana para depois testemunharmos sua transformação na simpática idosa. Não há truque de
61
magia, mas técnica. Assim Dona Passa nasce através desse parto cênico e umbilicalmente nos envolve com suas histórias.
“Tudo passa”, mas Dona Passa ainda continua aqui comigo e com ela pude aprender que o excesso de luz também cega (“não existem mais bruxas e assombrações, tudo é explicado hoje”), que é preciso habitar a escuridão da vida e do mundo, abraçar as sombras, amar o desconhecido, sustentar os mistérios.
Uma réstia de luz também é farol capaz de abrir caminhos através de pequenos lampejos.
Engenho de histórias de Dona Passa é puro jogo, conversa boa, palavra dançada, cantiga ancestral, velhice e infância, lucidez e inocência. Aguça nossa escuta e amplia nossa sensibilidade. Apresentada no palco do Centro Cultural Mauro Cunha (na cidade de Gurupi, Tocantins), encontrou nas crianças ali presentes a cumplicidade necessária para a criação e manutenção de uma brincadeira de quintal. Era bonito ver a criançada disputando um lugar para estar junto daquela velha senhora, cuidando dela e também por ela sendo cuidada. Porque onde há fragilidade se convoca nosso gesto de responsabilidade.
O tempo de duração de uma vela flamejante
De alguma forma o espetáculo aborda o tema da solidão e em seu bojo alterna rigorosa pesquisa de interpretação com modos de improviso e interação com a plateia. Em
62
nosso contexto atual marcado pela aceleração do tempo e pela pobreza das experiências, o trabalho nos provoca ao instaurar uma comunidade de ouvintes mediada pela força da oralidade. Dona Passa resgata a arte da narrativa cada vez mais extinta em nossa sociedade obcecada por imagens. São sussurros e vestígios do humano.
Por trás dos engraçados contos ofertados por aquela mulher de coluna envergada, uma dor trágica e fina vibrava, um arrepio de morte, um prenúncio do fim que a todos nós, está destinado. Mas com Dona Passa a vida insiste, pois ela é um pouco gente e também um pouco bruxa. Tem lá suas artimanhas e armadilhas para germinar belezas e colher delicadezas. Moradora de outros tempos, lá na Aldeia Jiquitaia deu o ar de sua graça. E graças a ela saímos do teatro mais aliviados e como ela dizia: “abençoados”. Penso na literatura do escritor moçambicano Mia Couto: “abensonhados”. Voltei para o hotel trazendo algumas folhas de chá de melissa que ela gentilmente nos ofertou para acalmar os nervos.
Para finalizar: Engenho de histórias de Dona Passa parece alcançar o “grau zero” do teatro: uma história, uma personagem, uma atriz, o palco e o público. Uma forma singela de celebrar os encontros. Pois enquanto Dona Morte não vem a Dona Vida segue com essa dona que nos “passa”, nos ultrapassa: Dona Palavra.
Fevereiro / 2023
63


Foto: Guto Muniz Macbeth 22
Teatro como gesto de aproximação
Por Julia Guimarães
Crítica do espetáculo “Macbeth 22”, visto durante a temporada de estreia na Funarte-MG, no dia 05 de fevereiro de 2023, em Belo Horizonte.
Desde que assisti, no FIT-BH 2006, à inesquecível encenação de “Ensaio.Hamlet” – da carioca Cia. dos Atores –, percebi que o jogo de entrar e sair da ficção poderia funcionar como dispositivo poderoso para aproximar o público de uma obra aparentemente distante de seu próprio universo. Na montagem, a peça de Shakespeare era levada à cena, como o próprio nome diz, sob a estética processual de um ensaio.
Em “Macbeth 22”, criação de Mariana Muniz e Maurílio Rocha, existe uma aposta semelhante, no que se refere ao desejo de trazer a tragédia shakespeariana para mais perto dos espectadores. Em um cenário minimalista, que alude sutilmente à floresta andarilha do texto original, Mariana Muniz explora o diálogo direto com a plateia como modo de fazer do teatro um gesto de aproximação.
Na dramaturgia do espetáculo, criada por Muniz em parceria com David Maurity, a conversa com “Macbeth” é tecida sob a forma de um livre comentário. Por exemplo, ao contextualizar e justificar para o público certas escolhas da montagem, ao narrar passagens da trama no lugar de encená-las, ao criticar a peça original, ou, ainda, ao aludir
66
a memórias de infância. Trata-se de um diálogo que se assemelha, em alguma medida, a princípios relacionados ao gênero do ensaio.
Para Lehmann[1], o chamado “ensaio cênico” seria definido como uma espécie de “reflexão pública sobre determinados temas”. O que Mariana Muniz faz no palco, com o uso de uma atuação extremamente empática e que valoriza sobremaneira as palavras ditas, é justamente compartilhar suas inquietações diante da peça que ela simultaneamente encena. A liberdade de aproximar “Macbeth” a outras produções artísticas – como as canções “Help”, dos Beatles ou “Vampiro”, de Caetano Veloso, executadas ao vivo pelo músico Maurílio Rocha – deixa entrever as escolhas afetivas dos criadores em seu olhar sobre a tragédia do dramaturgo inglês. Aliás, também vinculado a essa estratégia de aproximação, o convite proposto aos espectadores, durante o prólogo, para que imaginem juntos a história a ser contada, embora seja recurso recorrente no teatro contemporâneo, não deixa de funcionar como a construção de um significativo elo convivial entre palco e plateia.
Os comentários presentes na dramaturgia ajudam, ainda, a produzir camadas de mediação diante da obra. Trata-se de um enquadramento que permite, por exemplo, que a atriz interrompa um monólogo da emblemática personagem Lady Macbeth para sublinhar concepções problemáticas acerca do gênero feminino no teatro de Shakespeare; ou, ainda, que ela possa refletir criticamente sobre a visão redutora do autor em relação às
67
personagens mulheres de suas tramas, constantemente vinculadas a dois grandes protótipos: o da bruxa e o da virgem.
É essa liberdade para dessacralizar tanto a tragédia de Macbeth quanto o legado do dramaturgo inglês – muitas vezes cultuado na crítica literária como semideus – o aspecto que mais colabora para fazer “Macbeth 22” ressoar em plateias atuais. Também em semelhança com “Ensaio. Hamlet”, o diálogo com a cultura pop materializa essa livre aproximação, seja ao vestir rei e rainha com coroas promocionais de uma famosa marca de hambúrguer (e, assim, evidenciar o aspecto de banalidade associado à tirania) ou ao invocar a wikipédia a fim de comentar, sob a forma de um hiperlink cênico[2], a importância do reinado de Elizabeth I para se compreender as contradições existentes entre gênero e poder em diferentes épocas.
Ao ressaltar, em algumas passagens, qual é o corpo que vai narrar a história de Macbeth – não um corpo neutralizado em suas características biossociais, mas o corpo de uma mulher branca – Muniz também alude a algumas de suas escolhas cênicas. Se a problematização acerca das questões de gênero surge como fator importante para atualizar a obra em sua versão 2.2, as provocações levantadas no prólogo acerca da relação entre branquitude, poder e tirania acabam não tendo reverberação no decorrer do espetáculo.
Esse é um aspecto que poderia projetar complexidade sobre as aproximações entre o texto original e a política
68
contemporânea. Como o próprio título sugere, uma das apostas da releitura é a tentativa de pensar o Brasil de 2022 e, portanto, o Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro. Trata-se de um paralelo que encontra ecos em reflexões públicas recentes, como a do professor de literatura João Cezar de Castro Rocha, em artigo[3] no qual comparou o ex-presidente a três personagens tirânicos de Shakespeare – Ricardo 3º, Saturnino e Macbeth.
De fato, a presença em cena de um governante que não mede esforços nem reconhece limites para se perpetuar no poder possui semelhanças evidentes com a realidade brasileira recente. Trata-se de uma constatação amplamente disseminada, mas que não surge acompanhada de um exame sobre o lugar da culpa nesse possível paralelo e tampouco provoca a plateia a repensar sua própria posição em contextos de poder concebidos de forma mais sistêmica e menos personalizada (tal como ocorria, por exemplo, no espetáculo “A floresta que anda”, uma livre adaptação de “Macbeth” dirigida por Christiane Jatahy na década passada).
A respeito dessa aproximação com o Brasil contemporâneo, são também os momentos de partilha íntima – como a hesitação entre contar ou não essa história ou o relato sobre os gatilhos detonadores do processo de criação –que estabelecem alguns dos elos mais interessantes entre a macro e a micro-história. Neste gesto de aproximação, a trilha sonora executada ao vivo por Maurílio Rocha, somada à cumplicidade entre músico e atriz em uma sutil contracena trazem um viés performativo que ajuda a
69
manter forte a conexão com a plateia. Após alguns anos de suspensão do teatro presencial, nada melhor retomá-lo com ênfase em aspectos que apenas a copresença pode proporcionar.
[1] LEHMANN, Hans-Thies. Teatro Pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
[2] Viabilizado pelo uso de um projetor em cena com ilustrações associadas ao histórico do reinado de Elizabeth I.
[3] https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/05/ tiranos-de-shakespeare-explicam-golpismo-debolsonaro.shtml
Fevereiro / 2023
70
71

72
ruína acesa
o ruína acesa foi criado em abril de 2017 por Amilton de Azevedo com o intuito de ser uma plataforma de crítica cultural inicialmente voltada apenas à obras teatrais, durante a pandemia também passou a acolher textos sobre trabalhos virtuais, filmes e séries.
manter a ruína acesa. a ideia que o nome do projeto carrega traz consigo uma referência à efemeridade do teatro: uma chama que consome à si mesma. a escrita crítica emerge, então, como possibilidade não apenas de registro, mas de recriação da obra. assim, ruína acesa é uma possibilidade de reverberar acontecimentos cênicos; analisando-os criticamente a partir de suas próprias propostas. a crítica configura-se, assim, como diálogo, reflexão e, fundamentalmente, como cúmplice do fazer artístico.
73


ç ão
E se a porta cair seguiremos sentados... Foto: Divulga
cinco agitadores e uma polifonia dissonante
Por Amilton De Azevedo
Quando Bertolt Brecht escreve A Decisão, em 1929, inicia sua dramaturgia com a fala do Coro de controle, voz ligada ao Partido Comunista da União Soviética, afirmando aos Quatro agitadores que estiveram em missão na China para a difusão dos ideais revolucionários que também neste país a revolução está em marcha, e as fileiras de combatentes estão organizadas. Na obra que encerra a Trilogia dos afetos políticos da Cia de Teatro Acidental (formada em Campinas, SP), a dramaturgia de Artur Kon inverte esta chave; em E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis, o trabalho não foi bemsucedido: também neste país (como em todos os outros) a revolução é uma ideia distante. As fileiras de combatentes estão totalmente desorganizadas, aliás quase não há combatentes.
O texto de Brecht, com sua estrutura de duplo julgamento (um coro do Partido julga quatro agitadores que, no trabalho clandestino de incitar a revolução, se veem forçados a julgar e executar um camarada, que deve aprender a morrer), foi ele mesmo submetido ao julgamento implacável da direita tanto quanto da esquerda anti-stalinista, considerando ainda que o próprio Partido condenara a peça, negando ver nela narradas práticas comparáveis às suas, conforme as palavras de Kon no prefácio da publicação da Trilogia
76
dos afetos políticos (Javali, 2022).
A percepção desta peça didática (Lehrstück) como espécie de propaganda dos ideais comunistas inclusive foi pauta dos questionamentos relacionados à atuação de Brecht diante do Comitê de Atividades Antiamericanas (HUAC), como mostra o depoimento registrado em 30 de outubro de 1947, onde o artista alemão defende que A Decisão é uma adaptação de uma obra do teatro Nô e que o Jovem Camarada não foi assassinado, mas passou por, de certa forma, um suicídio assistido: He killed himself. They supported him, but of course they had told him it were better when he disappeared, for him and them and the cause he also believed in.
No mesmo depoimento, Brecht aponta que A Decisão acompanha de forma próxima uma antiga história que mostra a devoção para com um ideal até a morte (follows quite closely this old story which shows the devotion for an ideal until death). Essa sucinta apresentação da obra que serve de base para o trabalho da Cia de Teatro Acidental traz consigo uma série de complexidades e nuances – talvez muito maiores do que uma leitura realizada com pressupostos assertivos sobre o que quer dizer o teatro brechtiano poderia apontar.
A própria ideia de peça didática é, conforme mais uma vez o prefácio de Kon para a publicação das dramaturgias da Acidental, um termo que já traz em si
77
uma polêmica entre quem acusa o proselitismo redutor e autoritário e aqueles que viram nesses experimentos a parte mais atual da obra de Brecht: jogos abertos à intervenção de cada grupo que os aborda, pois não visam a educar o público, mas os próprios atores, que não aprendem uma doutrina pré-determinada, mas um pensar dialético em ação (até eventualmente divergindo do texto).
Pois o que Kon faz, alinhado à encenação dirigida por Maria Tendlau de E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis, é precisamente reelaborar o texto de Brecht dialeticamente a partir do confronto com ele e com os tempos que correm. A investigação da inação contraposta ao modelo de ação brechtiano se afirma desde as primeiras palavras – senão diante da própria escolha do título – da obra: Temos muito o que dizer, queremos comunicar. Há que comunicar uma morte, a morte de algo que não necessariamente sabemos o que é.
No pensamento visual de Renan Marcondes, a Cia Acidental distribui suas peças, pistas e evidências como que num tabuleiro. As escolhas da interpretação apontam continuamente para a necessidade de comunicar e a angústia da incerteza em torno do que efetivamente dizer; a distribuição dos textos corrobora uma intenção de produzir coralidades dentro da contemporaneidade virtual (com fronteiras cada vez mais tênues entre atuação digital e ações concretas) que inevitavelmente se dissolve em uma polifonia
78
dissonante na coletividade cênica proposta, entre identidades particulares e marcadores bem definidos.
Em cena, Kon, Chico Lima, Mariana Dias, Mariana Otero e Ma Zink são as peças deste jogo cujo tabuleiro se desmonta antes mesmo de que se faça possível compreender as regras daquilo que ali se movimenta. Ali, são agitadores, coro de controle, jovem camarada, camponeses, juízes, executores; e fazem do público cúmplices, de algum modo, daquilo que nem se sabe, daquelas tantas desculpas que se pedem, do tanto que se move sem de fato mover nada.
A Cia de Teatro Acidental, aliás, durante toda a Trilogia dos afetos políticos, manteve em suas realizações uma importante percepção: a adaptação/atualização de um discurso cênico demanda uma renovação também formal. Assim, ao trazer A Decisão cem anos adiante, enquanto espelha seus quadros investiga o que se pode fazer a partir do que ali se apresenta.
Quando Brecht fala dos Ensinamentos dos clássicos, a Acidental evoca Bernard Koltès: é como se a solidão dos campos de algodão, dos escritos do francês, encontrasse hoje enquanto possibilidade apenas uma antinegociação; um fracasso da ação, um fracasso do desejo. No teatro besta confessado por Kon no prefácio já citado, nessa busca pelo pior teatro do mundo, E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis se permite habitar consistentemente esse não-saber, compreendendo-o como necessidade nevrálgica para
79
uma esquerda, um progressismo, que se observa e se autodiagnostica, fazendo do coletivo algo que os força ao esforço de abrir mão das certezas em prol de um processo aberto ao imprevisto, ao desconhecido.
Basta olhar para a janela (ou para a tela de nossos celulares) para notar que de muito pouco vale estarmos certos de nossas razões – Afinal, o saber que já dominamos não tem adiantado muito para dominarmos igualmente os rumos do mundo… Aliás, cabe apontar aqui para a insistência deste texto trazer reiteradas vezes as palavras de Kon: a publicação da editora Javali alinhada à estreia de E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis se mostra mais do que oportuna, auspiciosa. Viabilizado pelo Prêmio Zé Renato de Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, o livro é um bonito e marcante momento para quem acompanha as produções do teatro de grupo paulistano: nele, verificase o alinhamento entre proposições ético-políticas e os desenvolvimentos estéticos resultantes das pesquisas de um coletivo teatral.
Seguindo nos quadros de Brecht revisitados por KonTendlau-Acidental, a Anulação, o segundo de A Decisão, já traz outro bom nó: ali, O Diretor da Casa do Partido afirma aos agitadores que eles não têm nome nem mãe, são folhas em branco sobre as quais a revolução escreve as suas instruções. Que a partir deste momento vocês não são mais ninguém, a partir deste momento, e talvez até o seu desaparecimento, vocês são operários
80
desconhecidos. Pois em E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis este é precisamente o momento da autoafirmação da identidade; Eu sou uma mulher negra/ Eu sou uma mulher branca/ Eu sou um homem branco trans/ Eu sou um homem branco cis etc.
O etc. da publicação parece se evidenciar como chave para o entendimento: na dialética proposta pela Cia de Teatro Acidental, não se trata de apresentar métodos corretos de entendimentos e lutas pelo que se acredita ser certo no mundo, mas pelo contrário. Nesta espécie de peça didática, o aprendizado está no movimento de não-saber. De se manter em dúvida, compreendendo que a superficialidade com a qual muitas vezes se encara a racionalidade é tanto sintoma quanto causa; tanto culpa quanto responsabilidade. O convite é atropelar tudo que é raso no que diz respeito aos afetos.
No debate entre A pequena e a grande injustiça, quarto movimento da Decisão, um jogo onde a Acidental tenta mobilizar a plateia – e a tentativa pode ser vista como constrangedora, e o envolvimento pode ser visto como constrangedor. Falar de tribunal das redes sociais pode soar como um lugar comum, mas não se pode também ignorar esses novos parlatórios e suas pretensas horizontalidades e potências de construir armadilhas e oposições muitas vezes falaciosas. Se em Brecht os agitadores solicitam ao camarada a distribuição de panfletos político-ideológicos bem demarcados em torno de suas proposições, em E se a porta cair o que se distribui ao público são desenhos de colorir. Ali estão
81
aristocratas em guilhotinas e imagens associadas à propaganda comunista, mas o que isso quer dizer?
E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis diverte enquanto traz à tona a desconfortante percepção de que faltam combatentes e sobram culpas. São tentativas de construção de um nós emaranhadas numa feitura e desenlace de nós. A decisão paira no ar: juízes, carrascos e vítimas coletivamente preferindo não existir diante do desmontar dissonante de um tabuleiro cujas regras, mesmo bem compreendidas, parecem fazer do próximo movimento do jogo uma dolorosa impossibilidade.
E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis
Cia De Teatro Acidental
Texto Artur Kon
Direção Maria
Tendlau
Elenco Artur Kon, Chico Lima, Mariana Dias, Mariana
Otero E Ma Zink
Janeiro / 2023
Interlocutores
Clayton Mariano E Janaína Leite
Pensamento Visual
E Fotos Renan Marcondes
Concepção Sonora
Cia De Teatro
Acidental E Elias
Mendez
Cenotécnico Guilherme Schultz
Iluminação Cauê Gouveia
Colaboração
Teórica Alessandra
Affortunati Martins
Produção Anacris
Medina
82
83


Solo de Marajó e Amazonias
Foto: Everson Verdião
como olhares tanto
Por Amilton De Azevedo
Durante um mês deste início de 2023, no Teatro Paulo Autran e no Auditório do Sesc Pinheiros, divididos por três andares, duas obras coexistem em temporada –como tantas vezes acontece. O que chama a atenção neste momento é a possibilidade de observá-las em perspectiva curatorial, sendo tal programação definida de forma consciente ou não. Às sextas e sábados, quando amazonias – ver a mata que te vê [um manifesto poético] se aproxima de seu final no imenso teatro do subsolo, no terceiro andar está começando o Solo de Marajó.
Enquanto o trabalho apresentado no Paulo Autran é o decantar de um projeto artístico-pedagógico idealizado pelo Sesc São Paulo, com extensa ficha técnica dividida em uma série de núcleos criativos, técnicos e de apoio –que, conforme o programa aponta, trabalharam de forma circular e horizontal – além de uma grande quantidade de atuantes selecionados a partir de chamamento público, no auditório o espectador se vê diante de apenas um ator e o palco nu. Então, qual o sentido de aproximar tais encenações? Seria simplificador dizer que trata-se do tema; mais adequado, pensar em seus olhares – ambos miram um tanto, de formas singulares e radicalmente distintas.
Solo de Marajó, criação de Alberto Silva Neto (dramaturgia, iluminação, encenação e direção) e
86
Claudio Barros (dramaturgia, figurino e atuação), do Grupo Usina (PA), é um representante – tantas vezes solitário – dos teatros do Norte do país a se apresentar em palcos sudestinos. Na análise de Kil Abreu para o Cena Aberta, além das leituras sobre a cena, o leitor pode encontrar uma contextualização importante em torno desta questão – e também um apontamento sobre a qualidade que existe mesmo onde nossa “vista” não alcança: entende-se, tantas são as condições na contramão: a deficiência das políticas públicas locais e o chamado “custo amazônico” – uma conta em que se mostra o quanto é dispendioso cruzar o país vindo de cima para apresentações em outras praças. Mas o fato de não estar à vista das outras regiões não quer dizer que uma parte do melhor teatro brasileiro não esteja lá.
A obra baseia-se no romance Marajó (1947), do também paraense Dalcídio Jurandir, que compõe o chamado Ciclo do Extremo Norte, sendo o segundo de dez livros que apresentam um quadro da Amazônia paraense provavelmente desconhecida – se não ignorada –por grande parte de nós, sudestinos. E não apenas a realidade, mas também sua literatura, suas criações, seus imaginários que vão além do que geralmente se espera, sejam em estereotipias pejorativas – como quando se insiste em falar de um brasil profundo, por exemplo –ou naquelas que fazem das matas (e as amazônias certamente são mais do que concebemos como matas) espaço idílico de resgate e invenção.
Silva Neto e Barros adaptam o romance de modo a
87
fazer de suas cenas quase que capítulos, episódios de narrativas vivenciadas por diversas personagens cujas relações se revelam no caminhar deste Solo de Marajó. No texto já citado de Kil Abreu, Solo de Marajó e a lenta vazante das marés amazônicas, o crítico aponta para o fato de que a dramaturgia, voluntariamente ou não, se inspira no plano livre dalcidiano, que mescla o andamento dos fatos na vida ordinária dos personagens à reflexão íntima e, ainda, que se pode perceber um recorte nas escolhas do texto: o drama das mulheres do andar de baixo.
Para dar vida a essas vidas, Barros faz de seu corpo e voz veículo de poesias e dores. Intérprete de grande precisão, move-se no palco como se Solo de Marajó fosse uma grande coreografia – o que, inclusive, poderia convidar a iluminação a outras possibilidades para além do blecaute que marca o encerramento de cada narrativa, para que o público pudesse acompanhar os passos de Barros nas transições gestuais de cada uma das caracterizações e marcas de cena. Nesse sentido, ainda que salte aos olhos a qualidade técnica do ator, não se trata de obra formalista: o que grita no trabalho do Usina é o abandono, o desamparo, as cicatrizes coloniais que se mantém desde muito; na época retratada por Jurandir, na época da escrita do livro, nos tempos que ainda correm.
A complexidade está imbricada em uma teatralidade do simples. Nas violências que correm em texto e subtexto, em ausências e partidas. São precisas as escolhas do como contar, do como representar, do que se faz presente
88
no palco e o que se constrói entre narrador e plateia, evocado no invisível que é matéria da cena. Da poesia de duas luas aos rostos que permanecem vistos nas águas, Barros povoa o ar que preenche a sala com a leveza do que é grave, movendo águas há muito paradas mesmo no correr do rio.
Alguns andares abaixo, no mesmo prédio, as amazônias são inspiração para amazonias, grafada sem acento, como que ação, sinfonia, também dissonância; distâncias, espelhamentos e aproximações neste gesto de ver a mata que te vê, entre jovens das margens (e do centro, também por vezes periferia) da cidade de São Paulo e as imensidões das margens dos rios e igarapés que cortam a floresta.
Se Solo de Marajó é encenação de longa trajetória, estreado em 2009, realizado no escopo de um grupo independente com mais de trinta anos de pesquisa e criação, por artistas de grande experiência, amazonias –ver a mata que te vê [um manifesto poético] é fruto de ação sociocultural, pedagógica e artística gestado no contexto de uma das mais fortes instituições do país – o Sesc São Paulo.
Assim, vale dizer aqui com todas as letras de que o presente texto não ambiciona tecer nenhum tipo de comparação entre os trabalhos, por ser nítido que tratamse de obras de naturezas radicalmente distintas. De todo modo, cabe falar de ambos em uma mesma reflexão por conta, novamente, da programação da unidade Pinheiros,
89
cuja curadoria acabou por oferecer a seu público dois espetáculos de teatro com relações diretas com a região Norte do país, seus biomas e seus modos de vida.
No farto programa de amazonias – ver a mata que te vê, as intenções e ambições do projeto se apresentam de forma cristalina. Sua relevância é inegável, especialmente no que diz respeito à marca que uma experiência de tal dimensão deixa nas jovens pessoas atuantes envolvidas no processo formativo de pesquisa e encenação – cujas reverberações oxalá serão vistas nos palcos e espaços culturais de suas regiões e da cidade como um todo. Também em seu conteúdo, de denúncias urgentes (como são tantas nestes tempos).
Neste sentido, já é possível refletir em torno dos efeitos e alcances deste manifesto poético. Considerando se tratar de temática amplamente divulgada em veículos de imprensa, pode-se pensar que muitos dos dados apresentados são de conhecimento público – ainda mais considerando o público que frequenta os teatros do Sesc São Paulo. Isso não diminui a importância, no sentido de que muitas vezes é fundamental insistir em localizar questões histórica, demográfica e estatisticamente.
No que diz respeito à encenação, Maria Thaís opta por uma organização fragmentada, compondo amazonias de uma forma (inescapavelmente?) plural. O risco assumido é de um andamento inconstante, em quadros que tateiam muitos possíveis, de modo que pode causar a impressão que os sobrevoa de maneira panorâmica.
90
Uma análise do que se vê na cena é indissociável do subtítulo da obra: [um manifesto poético]. Talvez não se possa, mesmo, olhar para amazonias como se mira um espetáculo tradicional. Seu caráter formativo (de artistas, de públicos) parece mesmo o ponto focal do projeto, de visível relevância pedagógica e sociocultural.
Porém, insiste-se numa espetacularidade, numa teatralidade que soa excessiva em suas materialidades cênicas, como se aqueles corpos e corpas em pesquisa e ação não fossem o bastante para levar ao palco suas narrativas. A simultaneidade de ações e composições traz uma curiosa beleza, ora como coletividades que pulsam em distintas frequências, ora como desfiles que se permitem um risco de quase (quase!) cair em lugares comuns. O sudeste tipicamente exotifica o tanto que compõe o imaginário e o universo amazônico, e é importante implicar-se nestas amazonias. Ao mesmo tempo, qual a relação entre o desejo de falar e a necessidade de construir espelhamentos?
Por um lado, os paralelismos podem ser percebidos positivamente. Em texto publicado no Ecoa, Trudruá Dorrico escreve que essa presença indígena, quilombola, e branca dissidente que resiste pela floresta é um manifesto contemporâneo que convida a plateia a refletir sobre o próprio bioma em que vive, resistindo às mesmas corjas extrativistas. Observando as amazonias neste sentido, há uma rica e fortuita possibilidade de identificação. Maria Thaís, em entrevista ao Farofafá, também diz algo neste sentido, ao falar sobre o olhar que
91
move o trabalho – um olhar para os modos de vida, para a diversidade que as amazonias, as diferentes formas de existir, de cultivar a floresta, de manter a relação com o mundo, estão expressas nos povos que ali habitam. A diretora artístico-pedagógica aponta que com certeza essa diversidade, essa multiplicidade, a mata, a floresta como lugar que expressa pra gente essa diversidade, ela está absolutamente associada aos modos periféricos de existência e que a gente com certeza vai identificar também nos jovens da periferia paulista.
A tensão proporcionada pelas proximidades e distâncias resulta em momentos marcantes de amazonias, como a cena da mata-cidade-mata, onde urbanidades transbordam pelas tantas margens do país. Por outro lado, a associação entre a cidade de São Paulo e os modos de vida da floresta é por vezes frágil, gritando as inatingíveis dimensões de lançar olhares para tanto, de modo que a própria encenação parece abandonar as fricções possíveis para então debruçar-se na mata que é – e menos na que te vê.
Há, assim, algo de desencaixe entre conceito, contexto e realização. Se nas coralidades e movimentos se pode perceber aos poucos as tantas singularidades que compõem o coletivo artístico, uma espécie de opulência nas construções cênicas parece depor, por vezes, contra a própria matéria prima que constitui não apenas a encenação, mas o projeto como um todo. São muitas as parcerias e é evidente que a troca foi intensa e extensa entre as muitas pessoas envolvidas na criação; a
92
sobreposição entre camadas de processo e de cena não é sempre harmônica, ainda que por muitas vezes sim – e o efeito na plateia, de deslumbramentos e reconhecimentos, é indiscutível.
Este texto poderia ser dividido em dois, tecendo uma crítica a partir de Solo de Marajó e outra a partir de amazonias – ver a mata que te vê [um manifesto poético]. Porém, pareceu fortuito abordar as duas obras em uma mesma reflexão, inclusive para contar às pessoas que vivem ou estão de passagem por São Paulo que há, em um mesmo edifício, na região do centro expandido, acessível por diversos modais do transporte público, duas possibilidades de fruir experiências teatrais pautadas pelo Norte brasileiro – seja como intenção, seja como origem.
A iniciativa do Sesc São Paulo, nesse sentido, é louvável, ao simultaneamente pautar uma obra paraense e outra que se lança a construir aproximações entre as amazônias e a existência sudestina. Ao mesmo tempo, faz pensar, para além do custo amazônico, em torno dos circuitos de (in)visibilidade produzidos e reproduzidos neste país de dimensões continentais, onde os fluxos de capital simbólico muitas vezes seguem reproduzindo os de capital financeiro.
Por fim, há de se lembrar também de que projetar expectativas sobre quais teatros e quais temas devem ser abordados por artistas e trabalhadores da cultura de distintas regiões do país é uma prática colonialista que deve ser abolida. Viabilizar produções de localidades
93
diversas é compreender a diversidade possível dos impulsos criativos de seus realizadores.
Dessa forma, como o presente texto fala, entre outras coisas, de um espetáculo concebido no Pará, parece fazer sentido encerrá-lo citando e celebrando três nomes: o primeiro, já citado, é Kil Abreu, que dispensa apresentações pela relevância de sua trajetória como curador e crítico, figura nevrálgica para o desenvolvimento das teatralidades contemporâneas paulistanas e atual editor do Cena Aberta. O ruína acesa lembra também de Rudinei Borges dos Santos, em cuja escrita poesia e dramaturgia conversam como velhos pescadores à ver o sol se pôr na beira de um rio que corre, e de Paloma Franca Amorim, que, além de já ter colaborado com este site, é autora de 7PISOS, ao lado do Grupo Folias, dentre tantas outras realizações de grande impacto e relevância em várias linguagens artísticas.
Olhar o tanto é fazer ver o que já nos circunda.
Janeiro / 2023
94
95

96
Satisfeita, Yolanda?
O blog Satisfeita, Yolanda? é um espaço para críticas, entrevistas, reportagens, bastidores. E, principalmente, para dar continuidade e repercussão ao processo de criação da arte teatral. As Yolandas – Ivana Moura e Pollyanna Diniz –são jornalistas pernambucanas, apaixonadas por teatro.
97


Subversão
ã o
Gambiarra Foto: Divulgaç
Os paraquedas coloridos do Gambiarra
Crítica dos espetáculos O Último Encontro do Poeta com a sua Alma e Avós
Por Ivana Moura
Em meio à pandemia e ao descaso do antigo governo federal com a cultura, quatro artistas confinados num sítio em Gravatá, no interior de Pernambuco, acionaram – em julho de 2020 – , os paraquedas coloridos (imagem-proposta de grande força vital de Ailton Krenak). Essa visão diz muito das nervuras desses últimos anos no Brasil e da postura dessa trupe – o ator Cláudio Ferrario, a atriz Olga Ferrario, o músico Hugo Coutinho e a cineasta Dea Ferraz – que criaram o Cineteatro Gambiarra. O projeto marca neste janeiro sua despedida do formado unicamente virtual com a exibição ao vivo pelo YouTube dos espetáculos A Reinvenção da Palavra, Avós, O Último Encontro do Poeta com a sua Alma e Martelada.
O título escolhido para o coletivo traduz alguns dos procedimentos do grupo e experimentos propostos.
Gambiarra é um ato de improvisar, de encontrar soluções materiais para resolver (ou remediar) uma questão. É também um mecanismo de subversão, com criatividade, dentro do sistema capitalista.
Existe uma intimidade entre essas pessoas, de afeto e amor, pois se trata de um coletivo artístico-familiar.
100
Olga é companheira de Hugo e filha de Cláudio, que é companheiro de Dea. E para animar essa festa ainda tem o menino Davi, que enfrentou a pandemia, e o pequeno Tom, que chegou há pouco, rebentos de Olga e Hugo.
A trupe investiu dois anos e meio nesse formato híbrido, entre imbricações de teatro, cinema e tecnologia, com a produção de seis montagens, que renderam cerca de 30 sessões e mais de 4 mil espectadores pagantes. É evidente que nas primeiras exibições os afetos eram mais inflamados, existia uma sofreguidão por parte do público, o que podia ser conferido nos debates calorosos após as peças.
O palco do Gambiarra ganha dimensões diferentes a cada peça. Além da disposição das cenas, a câmera faz os pequenos milagres do cinema com teatro. Em Avós, o espaço passeia espiralado no tempo. O voal, o caminho de pedras e as luzes amarelas contribuem com o clima de mergulhos ancestrais, no solo de atriz Olga Ferrario. É o primeiro texto de Olga, com contribuição da atriz Lívia Falcão (sua mãe), de Dea Ferraz e da jornalista e poeta Sílvia Góes.
A câmera da cineasta Dea Ferraz se multiplica em dramaturgias. Com seus planos-sequências, closes, enquadramentos e zooms, ela sinaliza possibilidades, registra imagens e insinua composições, com o sangue correndo acelerado nas veias do ao vivo, da respiração ligeira, do risco. A ação de Dea sintetiza as tramas
101
desse teatro de quatro artistas para administrar tantos desafios.
Nos relatos das avós, as palavras se alojam em lugares diferentes do corpo e se inquietam e mudam de lugar e viram lampejos. Os depoimentos dessas avós.–materna e paterna – foram colhidos em momentos distintos. A atriz faz um mergulho do que ela chama dentro. A intérprete assume qualquer coisa de uma ou de outra. Repete frases soltas, assume no corpo ancestralidade.
“Isto não é uma história”, avisa Olga. As falas são entrecortadas, confundem os fios do percurso. Existe uma evidente escolha pela leveza, sem perscrutar grandes depressões ou agonias. A vida segue um fluxo de lutas, de pequenas alegrias, As avós foram boas parideiras, Olga também teve seus filhos Davi e Tom de forma rápida e natural. Isso é pontuado na peça entre idas e vindas.
Os olhos da atriz ficam maiores para fazer confidências. As conversas gravadas com as duas mulheres se cruzam no presente futuro para tratar do passado das suas lidas. Hugo Coutinho cuida do ambiente sonoro, da trilha, da iluminação, acrescentando outras camadas a essa viagem ancestral.
Fertilidade, feminino, fluxos, água, essas ideias e imagens se sucedem e propõem ao espectador que acrescente suas próprias memórias e desejos enquanto
102
o espetáculo anda. E dá uma vontade de correr para o colo da avó, ou sentir saudade.
O Último Encontro do Poeta com a sua Alma integra a Trilogia das Dualidades do ator e dramaturgo Cláudio Ferrario. As duas personagens entabulam um diálogo que vai do raso ao profundo. E embora não se sustente em profundidades filosóficas, se alarga na tensão dos questionamentos sobre a morte, a criação artística e as escolhas.
Nessa peça, Ferrario parte da premissa de que existe uma Alma como ser independente da pessoa em si. No caso do Poeta, elas convivem em íntima ligação, mas não se misturam, têm posições próprias e algumas divergências.
O Poeta fica sabendo que lhe restam poucas horas de existência na Terra. A Alma, interpretada por Olga Ferrario, propõe que nesse tempo eles façam juntos uma espécie de inventário, avaliando a trajetória.
A dramaturgia textual se aproxima dos autos vicentinos, no eixo da sátira e da lírica. E por uma perspectiva moral. Mas também carrega uma agitação interna dos teatros de rua, apresentados em feiras populares.
Os diálogos utilizam expressões populares como “… a porca torce o rabo”, “… alma sai pela boca” como mecanismo de adesão do público (esses ditos populares nem sempre funcionam, ou pelo menos, não
103
provocam o efeito esperado em todos os momentos) . O Poeta e sua Alma passeiam de um tema de conversa a outro: tempo, vaidades de artista, significados de sucesso, honestidade artística, inferno, vender a alma ao diabo. Às vezes intensa, outras enfadonha, é a narrativa desse percurso.
A peça fecha com uma moral edificante da poesia, do teatro e do futuro.
Quem inventou a palavra: Deus ou Capeta? É a pergunta que gera A Reinvenção da Palavra, a primeira montagem do Cineteatro Gambiarra, uma adaptação da peça de teatro A Invenção da Palavra, de 2015, que teve encenação de Moncho Rodriguez.
Martelada encena as narrativas fantásticas de Martelo, o Mateus de Cavalo-Marinho mais antigo em atuação em Pernambuco Ele aponta que foi três vezes ao inferno e voltou para contar as histórias.
Essa temporada gratuita foi patrocinada pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE). Neste 31 de janeiro é exibido o último experimento, Martelada, pelo YouTube do Cineteatro Gambiarra:
https://www.youtube.com/@cineteatrogambiarra
Janeiro / 2023
104
105

Poema
 Foto: Rogerio Alves
Foto: Rogerio Alves
Nos tempos da peste
Crítica do espetáculo Poema, do Grupo do Ator Nu, do Recife
Por Ivana Moura
A peste tem muitas facetas. Todas horrendas, sabemos com a memória bem acesa pelos óbitos da pandemia. Quando a arte transborda do real pode amplificar o registro de um tempo, expondo em combinações complexas as dores e precariedades da existência. Na fase mais crítica da pandemia de Covid-19, o poeta, jornalista e gestor Antonio Martinelli criou e publicou em São Paulo, em 2020, sua Tetralogia da peste [+ dois tempos, uma cidade], pela n-1 edições. Ele construiu versos inspirados na calamidade que parou o mundo. É uma escrita sôfrega e inflamada, que percorre geografias e sugere imagens de convulsão das cidades diante das perdas.
Do Recife, o ator Edjalma Freitas foi instigado pelo texto e articulou uma equipe para criar um espetáculo virtual em 2021. Poema (um título muito genérico, que não traduz o espírito da coisa) foi erguido de forma virtual nos piores momentos da incerteza provocada pela crise sanitária e agravada no Brasil por um governo genocida.
A dramaturgia da peça está calcada nos poemas
108
Brasilândia, Zona Norte; Calvário e O Eco de Bérgamo. As palavras ganharam uma força diferente no palco (antes na telinha da virtualidade), que tem a ver com compartilhamentos. Muitos olhos dividindo as inquietações do instante. Assisti ao espetáculo em duas oportunidades on-line, em 2021, e em duas sessões em 2022, no Itaú Cultural.
A pulsação do medo, dos fantasmas, do isolamento e do desejo quase desesperado de viver são sustentados pela luz de Luciana Raposo e pelas sonoridades produzidas por Tarcisio Resende e Pedro Huff, que trabalham os climas da interpretação. Há densidades, mas elas vão se distanciando no retrovisor da memória do vivido.
O vírus acentuou a fragilidade da vida humana. Edjalma Freitas busca transpassar essa vulnerabilidade na toada das palavras de Martinelli. O corpo impregnado da cal desses tempos investe na carga dessas tragédias. Algumas vezes o peso se restringe às palavras, quando parece que o corpo ainda procura o devir das cicatrizes que combinem com a gravidade dos episódios expostos.
Sozinho no palco, o ator narra as desgraças, a partir da convulsão de três cidades, uma do Brasil, outra do Equador e a terceira da Itália. Nas partituras corporais possíveis para traduzir o horror, Edjalma avança por Brasilândia, contaminada por outras pragas: do açoite da herança escravocrata às marcas da exploração
109
bandeirante nos degraus da desigualdade.
As visões indignadas do diretor teatral Quiercles Santana estão na cena, com o registro da obstinação em fazer arte, mesmo em condições precárias ou adversas. E disso tira fios para construção de linguagens. A diretora de cinema Tuca Siqueira também participou da criação do experimento na versão on-line, nos idos de março de 2021.
O ato Calvário conta o que aconteceu na portuária Guayaquil, no Equador. “A cidade que abandonou seus doentes em cima das macas, seus mortos, em cima das mesas. [carnes para urubus nas praças públicas]”, nos versos de Martinelli.
A escuta do colapso em Guayaquil é contundente. As imagens desconcertantes suscitadas pelo texto se expandem para Manaus e outros territórios onde houve falta de ar. As feridas expostas pelos sons das palavras escancaram a miserabilidade humana.
“Toda hora é de luto em Guayaquil”, marca uma batida no tempo quase musical. Com pequenas nuances de leituras, se avulta o imponderável diante da morte. Mas não há imprevisibilidade que ampare a incompetência e a maldade na incumbência de gerir situações de calamidade púbica.
O cenário de Guayaquil desse momento lá, – no auge da pandemia, com suas assombrações e tempos
110
suspensos – remete para muitos Brasis. De muitas vítimas como os Yanomamis, alvos do desprezo dos vermes inescrupulosas que ocuparam o poder e anularam vidas na escolha do uso das verbas públicas. Fome e peste como dados da necropolítica.
No poema O Eco de Bérgamo, Martinelli expõe sua intimidade com as artes visuais, avançando por muitos séculos da arte ocidental, mas dificulta para o leitor não tão próximo da linguagem. O autor cita pinturas famosas como O Nascimento de Vênus, de Botticelli; A Última Ceia, de Leonardo da Vinci e A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, para falar dos efeitos da pandemia na cidade italiana.
O eixo escolhido pelo escritor para o roteiro em Bérgamo é a série Espacios Occultos, do espanhol José Manuel Ballester. O pintor e fótógrafo madrilenho apagou as figuras humanas das obras. Ou como disse o crítico de arte e professor espanhol Francisco Calvo Serraller, despojou as obras dos seus personagens e de “todas as suas ações miseráveis ou desesperadas”, mantendo as paisagens do fundo da tela.
O ato de Bérgamo é mais espinhoso para levar ao palco. São muitas obras apontadas, de Cristo Crucificado, de Velázquez, passando por Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, de Goya, a Guernica, de Pablo Picasso, além das já mencionadas nessa crítica. O embaralhamento das narrativas e definição das estratégias dramáticas ainda se mostram um desafio para a equipe.
111
A peça faz um registro da pandemia, numa percepção de dentro do tempo histórico e se se posiciona contra a política pública criminosa do governo nazifascista e de seus iguais pelo mundo. Na cena, o mais frágil gesto à expressão mais virulenta transbordam de ação política.
Os aliados da peste têm as mãos sujas de sangue nas mortes. Poema reforça o coro: “Sem anistia”.
Poema
Texto: Tetralogia da Peste [ + dois tempos, uma cidade]
Autor: Antonio
Martinelli
Direção: Quiercles Santana e Tuca Siqueira (on-line)
Elenco: Edjalma
Freitas
Janeiro / 2023
Cenografia e figurino: Luciano Pontes
Iluminação: Luciana Raposo
Trilha sonora: Henrique Huff e Tarcísio Resende
Provocação corpo/ voz: Henrique Ponzi
Vídeo (computação
gráfica): Pingo
Designer gráfico: Hana Luzia
Fotografia: Rogério Alves
Produção: Cia do Ator Nu
Duração: 50 min
Indicação etária: 16 anos
112
113

Manifesto Transpofágico
 Foto: Rodrigo Fidelis
Foto: Rodrigo Fidelis
Manifesto Transpofágico em Paris e o Festival Everybody 2023
Por Ivana Moura
Poderia começar esse texto de muitas maneiras. A partir da recepção calorosa do público francês ao Manifesto Transpofágico. Com foco no crescimento da atriz Renata Carvalho desde a estreia da peça em 2019. Pelo que estava fora da cena (e nem tanto), do recrudescimento de atos antidemocráticos no Brasil ao recente horizonte humanitário com a volta de Lula. Por avanços na luta trans, que repercutem no palco. Existem caminhos e escolhas, sem garantias no caso do meu texto.
No trecho de um dos vídeos (um dos documentos) do espetáculo, uma frase ficou ecoando na minha cabeça nessa temporada parisiense, talvez porque sintetize a extensão e profundidade da violência contra os corpos trans: “cortei um braço… é pouco; corte o outro… é pouco, corte o pescoço”. É um depoimento de Bartô a Goulart de Andrade e Andrea de Maio, uma reportagem sobre a “Casa da Bartô”, de 1985, em que ela fala sobre aplicação de silicone industrial em travestis e como utilizava automutilação com gilete para defesa quando eram presas por abuso de poder policial.
Manifesto Transpofágico conta breves histórias de violências. Mesmo com cenas tocantes e outras engraçadas, a peça pinta um Brasil agressivo e
116
ameaçador contra corpos trans, de ontem e de hoje. E expõe o quanto o mundo é atrozmente transfóbico. São e serão necessárias mais mudanças e garantias de direitos.
O Brasil se “acabava” no Carnaval 2023, num quase desespero de alegria depois da suspensão da festa pela pandemia e do alívio de se livrar do traste-ruim. Em Paris, pouco afeita aos delírios carnavalescos, no Carreau do Temple, Renata Carvalho, atriz trans militante e transpóloga conduzia sua performance solo e ensinava / alumiava umas coisinhas sobre os malefícios da cisnormatividade, do patriarcado, da exclusão histórica, da hipersexualização, da perseguição e brutalidade contra às pessoas trans.
As duas apresentações do Manifesto Transpofágico, faladas em português com legendas em francês, em sessões lotadas nos dias 20 e 21 de fevereiro, fizeram parte do Festival Everybody 2023.
Renata Carvalho traça um breve panorama da construção social e das representações de mulheres trans a partir da sua própria experiência. De menino saco-roxo, passando pela rejeição dos pais e a transformação do seu próprio corpo, uma invenção à base de desejos inabaláveis e silicone industrial.
Sozinha no palco, usando apenas uma calcinha justa, ela relata a guerra entre seu corpo e os olhares curiosos, inquisidores, desejosos, questionadores, a sempre querer
117
arrancar pedaços simbólicos. Quase no escuro, sua voz anuncia um ajuste, enquanto convida a plateia para a sessão de transpofagia, a mirar – com a ideia de comer e digerir – seu corpo trans. “Meu corpo estava lá antes de mim, quando eu não tinha pedido nada. Ele é mais velho do que eu”, confessa, para destacar que “Hoje resolvi me vestir na minha própria pele”.
Essa pele que ela habita é esquadrinhada pela dramaturgia da iluminação, que retira o rosto dessa moldura. O corpo de Renata está recortado por luz e sombra. Os letreiros luminosos “gritam” obsessivamente a palavra “TRAVESTI”, que saltam do azul ao rosa choque, entre outras cores. As histórias são pesadas, de crueldades e humilhações. Mas ao falar de si, a atriz amplia seu foco para outras vivências semelhantes, para sua ancestralidade trans.
Corpo-desejo que persegue a essência do ser e não aceita as jaulas sociais. Estar em desacordo é ir à luta para se tornar protagonista de sua própria existência. A artista relata esses fatos em palavras simples, em episódios pontuais e compreensíveis, com franqueza, honestidade e coragem.
Corporeidade-história repleta de significações entregue praticamente em estado cru para o escrutínio da plateia. Mas há um preço para isso, cobrado mais sutilmente na primeira parte do espetáculo e mais diretamente na segunda, da consciência da transfobia de cada uma que contempla sua estampa.
118
Na peça as 3 uiaras de sp city, a dramaturga Ave Terrena Alves avisa, a quem interessar, que as personagens Miella e Cínthia devem ser interpretadas por atrizes travestis / mulheres trans, pelo menos até o ano de 2047. O texto é dedicado às travestis / mulheres trans de ontem e hoje, que lutam para existir.
Cito esse drama musical da Ave Terrena (que esteve em cartaz no CCSP em 2018) porque episódios da perseguição do Estado a homossexuais, travestis e prostitutas nos idos dos anos de 1970 e 1980 são retrabalhados artisticamente na peça. E também pela luta contra o transfake. Renata Carvalho é uma das fundadoras do Movimento Nacional de Artistas TransMONART, onde foi criado o Manifesto Representatividade Trans, com o objetivo de garantir que personagens transgénero sejam interpretados por artistas transgénero.
Algo avançou nesse terreno, mas é uma luta constante. Desde a infância é preciso enfrentar uma sociedade transfóbica, que faz um jogo canalha de glamourizar, capitalizar narrativas e até matar real ou simbolicamente. No Brasil isso ganha uma proporção gigantesca, já que o país lidera vergonhosamente o percentual de assassinatos, 40% do total mundial de pessoas trans. Há também o número alto de suicídios, por rejeição da família, dificuldade de sobrevivência, insegurança de toda ordem.
Para existir é preciso que as histórias não sejam
119
apagadas, que elas sejam contadas e recontadas. E Renata vale-se de arquivos documentais para fazer uma leitura crítica da trajetória cultural das travestis brasileiras. Sua transcestralidade que reconhece muitas que vieram antes, como Rogéria, Roberta Close e muitas outras.
O lugar social que ela ocupa é fortalecido por sua atuação como transpóloga, uma rama da antropologia que ela mesma criou, um estudo científico, teórico, etnográfico, epistemológico e empírico sobre sua “Transcestralidade” – uma antropologia trans, uma travesti que estuda o corpo travesti/trans, sua historicidade, transcestralidade, identidade, memória com foco nas artes.
Seu teatro é vivo e pulsante, humanamente imperfeito, com cargas da sujeira feito o rock, longe de qualquer ideia de alta cultura, beleza e bom gosto cis. Suas peças, como suas pesquisas, são atravessadas por reflexões e vivências da vida que reverberam no palco. Isso desde o questionamento da identidade de gênero em 2012, com espetáculo Em mim vive outra. Passando pela complexa e tumultuada atuação em O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, um texto de Jo Clifford, onde interpretava Jesus de Nazaré. Como o Evangelho veio a projeção, reconhecimento, mas também proibições, censuras, violações de direitos, ações judiciais, ataques, ameaças de espancamento e morte, linchamentos virtuais e a manifestação brutal de ódio contra o corpo travesti.
120
A segunda parte do espetáculo é na plateia. É o jogo direto com o espectador, performance ardente e cada sessão é única, depende das respostas, das disponibilidades dos depoimentos. Renata Carvalho pergunta sobre a relação estreita daquele grupo com o corpo, grau de conhecimento e afetividade, se existe alguém na família, como é a relação.
Ao fazer uma enquete com a plateia para saber quantos homens cis já ficaram publicamente com uma pessoa trans, a atriz desenvolve uma sequência lógica para dar o xeque-mate na fragilidade cisgênera. Do medo de perda de potência, do receio de virar o que não é e outras geleias na subjetividade.
Essa segunda parte da peça Manifesto Transpofágico é sempre surpreendente, é uma energia viva a questionar as violências da genitalização do gênero. Como já pontuou Dodi Leal, uma artista gênero-desobediente, a definição de mulheridade não é vaginal; a definição de masculinidade não é fálica.
Nas turnês ao exterior, a produção da corpo Rastreado procura convidar uma travesti do local. No caso de Paris a tradução ficou por conta de Vânia Vênus Munhoz Pereira.
Aqui vale um parêntese: Vânia Munhoz é uma brasileira radicada na França há 34 anos. Parte de sua história está no livro Ricardo e Vânia, de Chico Felitti, publicado pela editora Todavia. Ricardo, que virou uma lenda urbana
121
e circulava pela região das ruas Augusta e Paulista, no centro de São Paulo, trabalhava na distribuição de panfletos, era conhecido como Fofão da Augusta. O destino dessas duas figuras se encontrou nos anos 1980, quando elxs moraram juntes e aplicaram silicone na face. Ricardo morreu em 2017 depois de falar por videoconferência com o amor da sua vida. Interessados em saber mais dessa história, o livro está disponível nas livrarias e já tem os direitos comprados para virar filme.
Nessa tradução ao vivo, a atriz pergunta ao público e depois dá sua explicação de alguns termos, como cisgênero (“Se você não sabe o que isso significa, com certeza você é!” ) ou “passável”. Na primeira apresentação, incentivados pela artista, algumas pessoas deram seu depoimento da experiência de ter alguém trans na família.
Na sessão do segundo dia alguém respondeu que havia diferenças na acepção da palavra travesti no francês e em português. Bom de qualquer forma o público que acompanhou o festival é não desavisado. Se o médio francês já é bem sabido, o que opta por ir a um evento LGBTQIA+ já está bem-informado dos estudos de gênero No primeiro dia, por exemplo, Renata conheceu uma jovem pesquisadora que faz mestrado sobre o seu trabalho cênico.
Os franceses não toparam passar a mão no corpo da Renata. A atriz reforçou seu discurso sobre a consciência de que o corpo das mulheres, das trans, das travestis,
122
o cabelos dos negros, a barriga das gravidas não são mercadorias para se pegar e apalpar num impulso, sem autorização.
Os parisienses estão numa classe mais adiantada. Além disso, ao que parece, os franceses são treinados desde a infância a serem palestrantes, eles têm argumentação para tudo. E os registros do preconceito na gramática, nos hábitos dos países de primeiro para outros subdesenvolvidos mudam. Sutilezas e ironias. Sigamos.
Renata Carvalho é uma presença perturbadora, a atravessar os rumores da língua, a dizer de condições a que foram/são submetidos corpos com o seu pela sociedade. Um solo para rodar o mundo.
Manifesto Transpofágico
Com Renata Carvalho
Luz: Wagner Antônio
Direção: Luiz Fer-
Fevereiro / 2023
nando Marques
Vídeo: Cecília Lucchesi
Tradução: Vânia
Vênus Munhoz
Pereira
Operação de luz: Juliana Augusta
Produção: Corpo
Rastreado
123
A segunda edição do Festival Everybody durou cinco dias, de 17 a 21 de fevereiro de 2023, no Le Carreau du Temple, em Paris, um evento que juntou propostas artísticas que pensam e movimentam o corpo, questionando estereótipos de várias naturezas. Além dos espetáculos, o Everybody contou com aulas de dança e de bem-estar, instalações de arte contemporânea e encontros para públicos variados.
Além do Manifesto Transpofágico, destaco três espetáculos. A ousadia estética de Onironautade Tânia
Carvalho, a alegria festiva em Happy Hype, dos Ouinch Ouinch x Mulah e a delicadeza de uma dança de cuidado em Formes de vie, do coreografo Éric Minh Cuong Castaing.
A coreógrafa e bailarina portuguesa Tânia Carvalho é internacionalmente conhecida por suas ousadias e desassossego com os muros erguidos entre linguagens artísticas. Quando quer, flerta e namora com a música, artes visuais e cinema. Título do trabalho de Tânia Carvalho, Onironauta (do grego óneiros, sonho + náutés, navegante) é uma pessoa que pode permanecer em um estado de consciência enquanto sonha. Dessa maneira, é capaz de se mover dentro dos sonhos como se fosse a própria realidade, conhecido como “sonho lúcido”.
Em cena, dois pianos tocados por Tânia e o pianista Andriucha e mais sete bailarinos. Esse estado dos sonhos tem muito de surreal, imagens de abismos e visão do paraíso. Navegamos entre luz e a escuridão.
124
por um percurso estranho, desenhos desconcertantes. A provocação estética está embaralhada de vocabulário clássico e outras danças identificáveis ou não um tsunami de movimentos que desafiam as ideias de beleza. Há uma repetição bem-humorada, quebras e invasão estridente dos pianos. Sonhos estranhos fantasmagóricos e cheios de fúria.
Mulah comanda o som eletrizante de músicas afro e hiphop na peça Happy Hype, com o coletivo OUINCH OUINCH, que se instalou no grande salão do ginásio. No plateia crianças, jovens famílias inteiras. No palco, o grupo a exercita a liberdade dos corpos que se encontram e se agarram na pista, que se abraçam e fazem coreografias insinuantes. Um chamamento de uma energia coletiva, que se transformou em festa no final.
O trabalho assinado pelo designer, coreógrafo, diretor Eric Minh Cuong Castaing desenvolve um sensível processo entre o mundo do cuidado e o mundo da arte. Forma(s) de vida, uma peça em que corpos com problemas de mobilidade e corpos performáticos se combinam para realizar uma dança própria.
Kamal Messelleka, um ex-boxeador, que perdeu a força das pernas após um derrame, e Elise Argaud, que sofre da doença de Parkinson, tem a memória de seus corpos reativada. No palco estão Yumiko Funaya, Aloun Marchal, Nans Pierson.
As projeções de vídeos das caminhadas na natureza, ou
125
dos exercícios de fortalecimento expõem as dificuldades, as dores, a insistência. E brota um poder estético nesse tentar, e falhar, e tentar de novo, um desenho, um arco, uma pulsação.
Com o auxílio dos coreógrafos como próteses humanas, o ex-boxeador e a bailarina ampliam os movimentos, criam uma poética, expressam um jeito de estar no mundo. O tempo é expandido na repetição, no ralentar do gesto. A força de criar arte se apresenta na esteira de um profundo respeito à vida.
126
127

128
Tudo, menos uma crítica
Tudo, menos uma crítica. Além do nome da plataforma, este é o desafio dela, seu ponto de início e seu ponto final: como escrever textos reflexivos que sejam tudo, menos uma crítica? Nesse sentido, a pesquisa de Fernando Pivotto, desde 2017 tem sido a escrita reflexiva a partir de espetáculos teatrais que se afaste do modelo avaliativo, da chancela e da orientação de consumo, e se aproxime de outras possibilidades poéticas e sensíveis. A crítica pode ser um ponto de encontro? A crítica pode ser uma conversa? A crítica pode ser um espaço de partilha? A partir destas perguntas, o TMUC tem se mantido ativo e interessado nas trocas possíveis e na construção coletiva entre artistas, obra, crítica, leitores e quem mais se interessar por teatro.
129

Jorge pra sempre Verão
 Foto: Rai do Vale
Foto: Rai do Vale

132
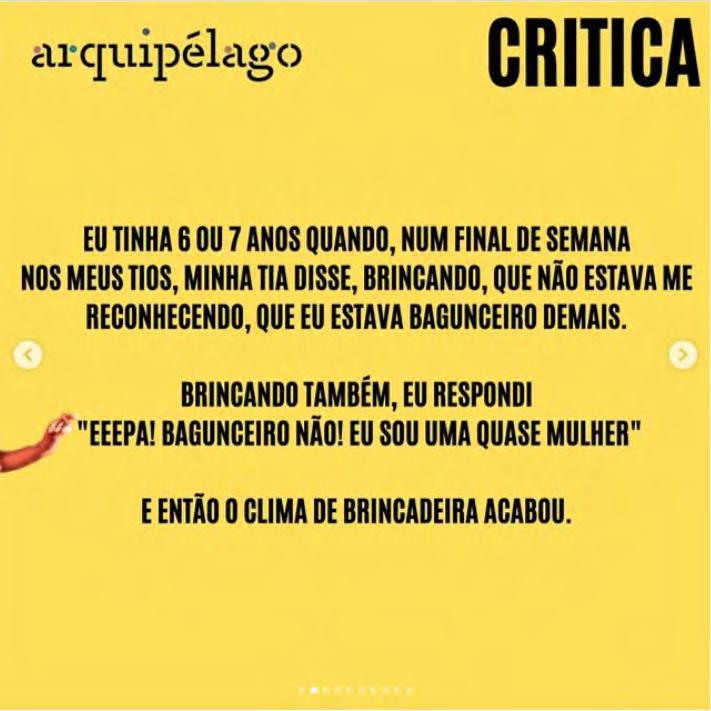
133

134
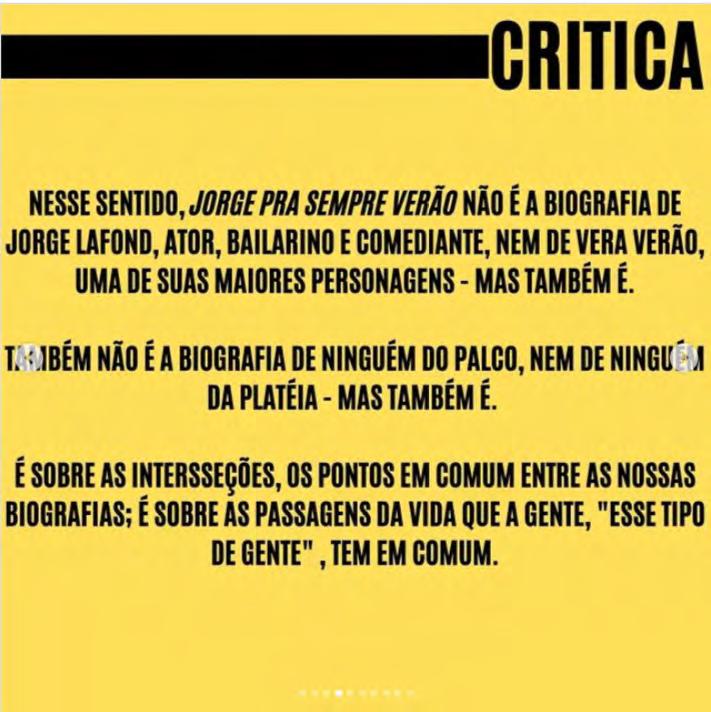
135
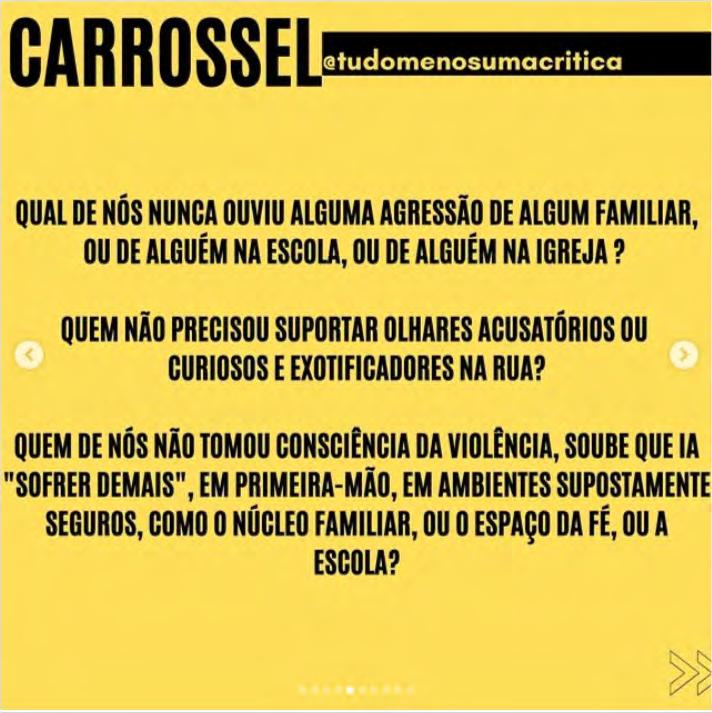
136
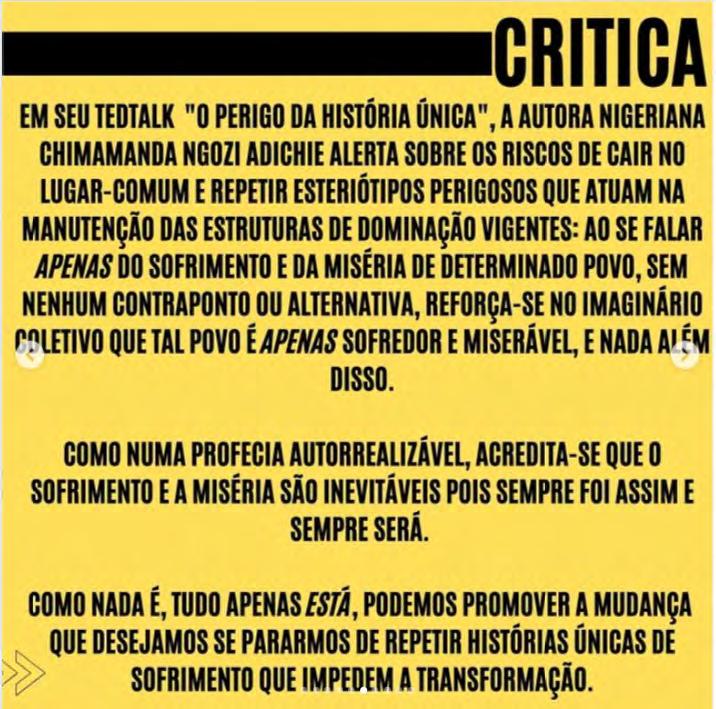
137

138
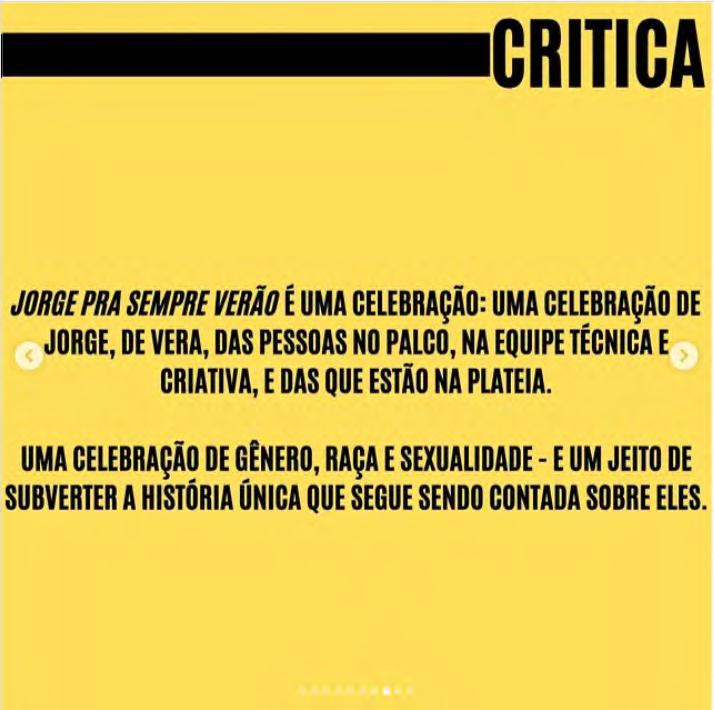
139
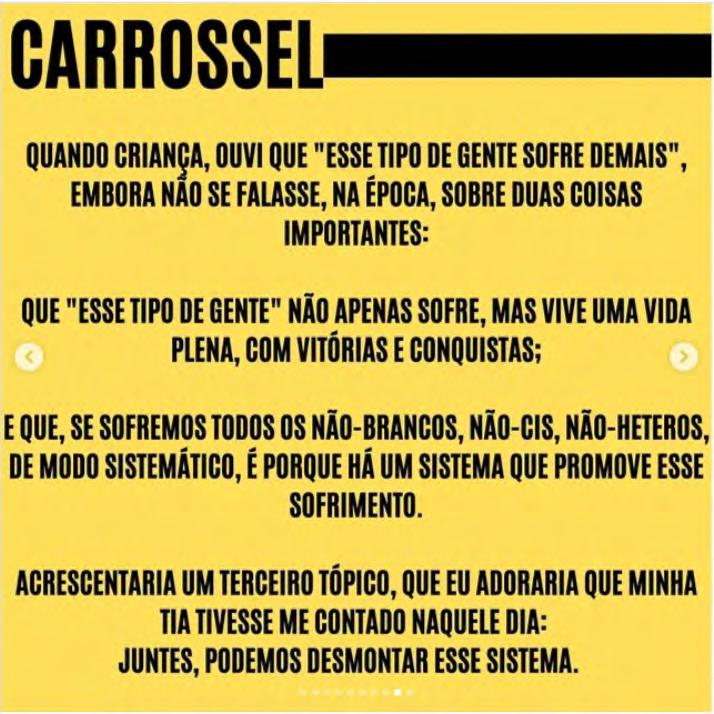
140

141
Jorge pra sempre Verão
Dramaturgia: Aline
Mohamad e Diego
Mesquita
Direção: Rodrigo
França
Assistente de Direção:
Por Fernando Pivotto
Janeiro / 2023
Kennedy Lima
Elenco: Alexandre Mitre, Aretha Sadick e Noemia Oliveira.
Stand in: Kênia Bárbara.
Direção de Movimento: Tainara Cerqueira
Trilha Original: Dani
Nega
142
143

Revista Babadeira
 Foto: Alexia Santana
Foto: Alexia Santana

146

147

148
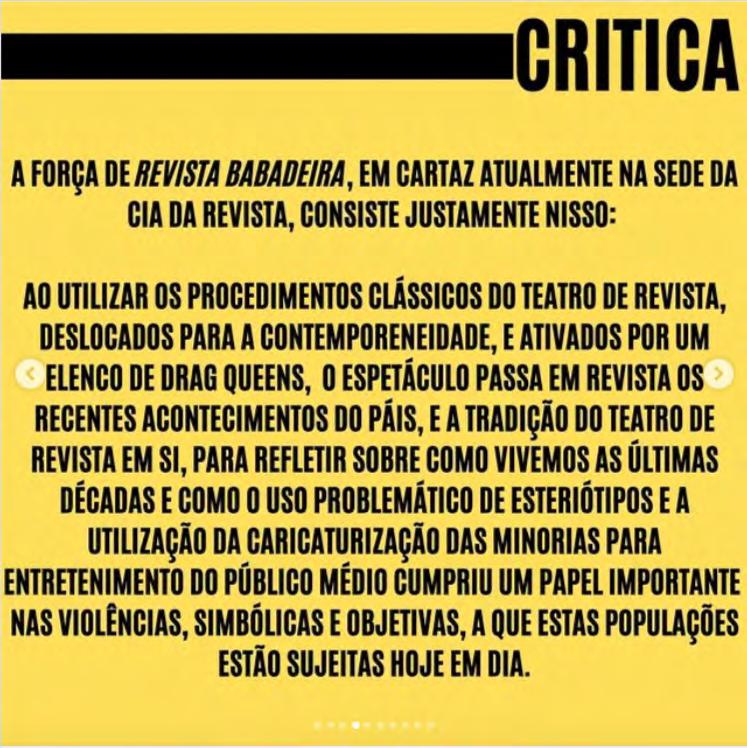
149

150
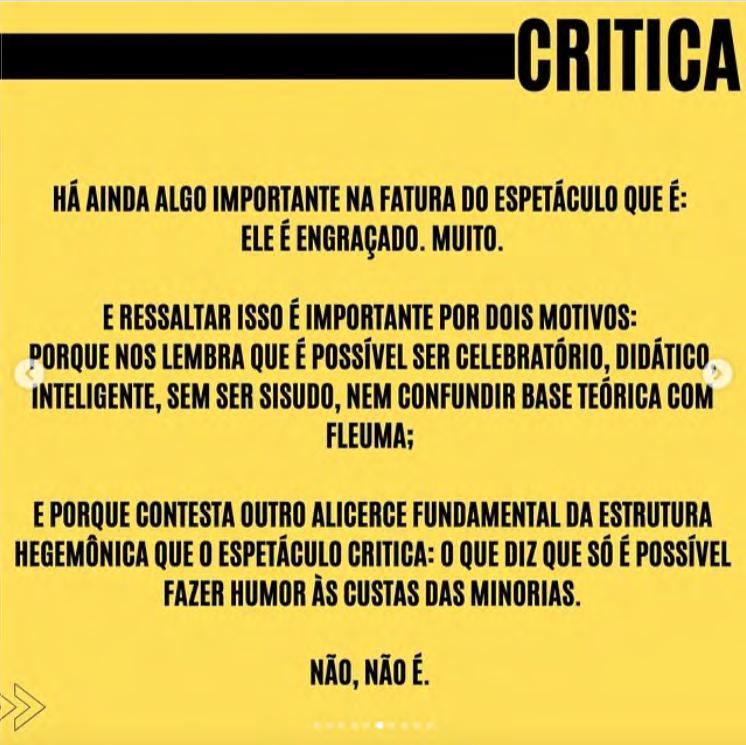
151

152
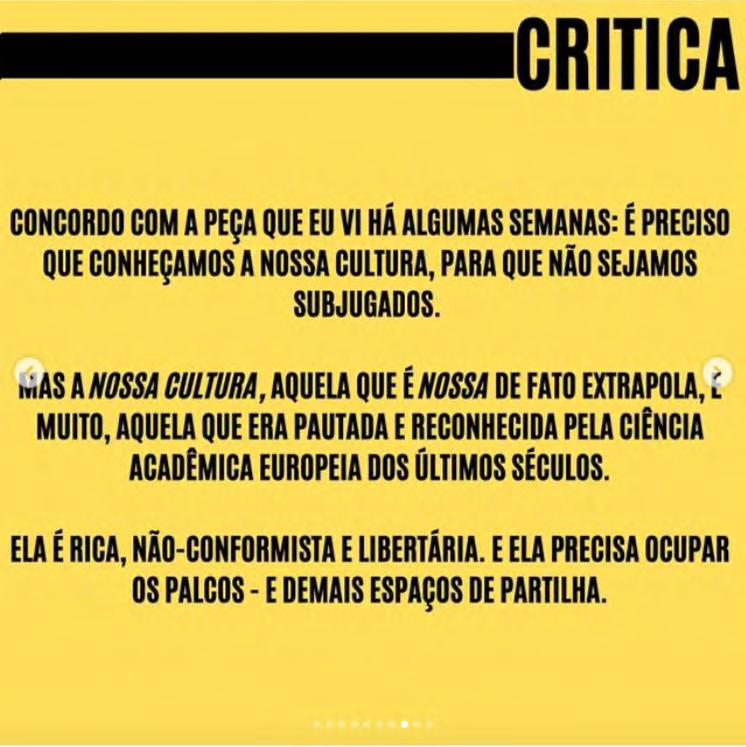
153
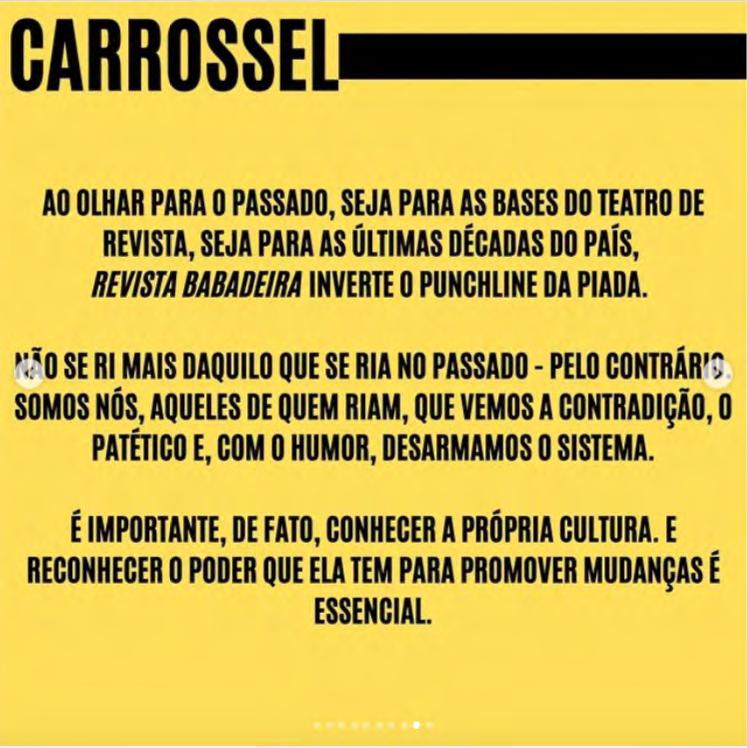
154

155
Revista Babadeira
Pesquisa, dramaturgia e direção: Neyde Veneziano.
Roteiro: Neyde Veneziano, Dagoberto Feliz, Thelores Drag e Alexia Twister.
Elenco: Alexia Twister, Antonia Pethit, Aprill XO, Divanna Kahanna Montez, Ginger Moon, Josephine Le Beau, Lacana Botafogo, Mercedez Vulcão, Thelores Drag.
Participação espe-
Por Fernando Pivotto
Janeiro / 2023
cial: Tony Germano.
Músicos: Daniel Baraúna, Demian Pinto.
Direção musical: Dagoberto Feliz.
Trilha especialmente composta: Danilo Dunas.
Direção musical: Dagoberto Feliz.
Músico/Pianista: Demian Pinto.
Cenário e figurinos: Kleber Montanheiro.
Desenho de luz e operação: André Lemes.
Coreografia: Paula Flaibann.
Assistência de direção: Zyon Colbert.
Direção de produção: Zyon Colbert.
Assessoria de Imprensa – M. Fernanda Teixeira, Macida Joachim/Arteplural.
156
157
Projeto Arquipélago | críticas
Cena Aberta
Farofa Crítica!
Horizonte da Cena
OFF Guia de Teatro
Ruína Acesa
Satisfeita, Yolanda?
Tudo, Menos Uma Crítica
Projeto Gráfico
Fernanda Ficher
Diagramação
Dado Rodrigues
Apoio Cultural
Corpo Rastreado
Edição
OFF Produções Culturais
www.projetoarquipelago.com.br

Apoio cultural
160



 Foto: Damião Paz
Foto: Damião Paz

 Foto: Stephanie Lauria
Foto: Stephanie Lauria

 Foto: Jennifer Glass
Foto: Jennifer Glass

 Rabiola
Foto: Ligia Jardim
Rabiola
Foto: Ligia Jardim


 Foto: Amanda Leite
Foto: Amanda Leite











 Foto: Rogerio Alves
Foto: Rogerio Alves

 Foto: Rodrigo Fidelis
Foto: Rodrigo Fidelis


 Foto: Rai do Vale
Foto: Rai do Vale

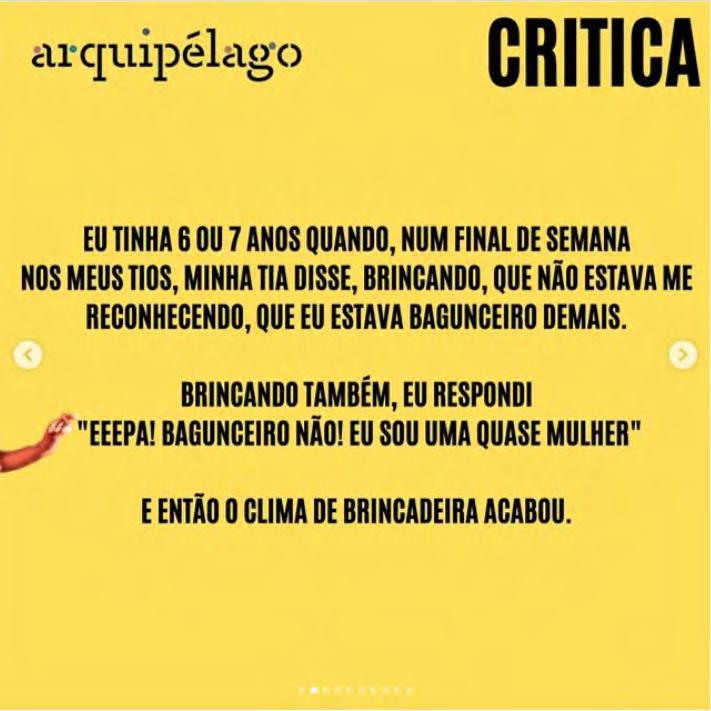

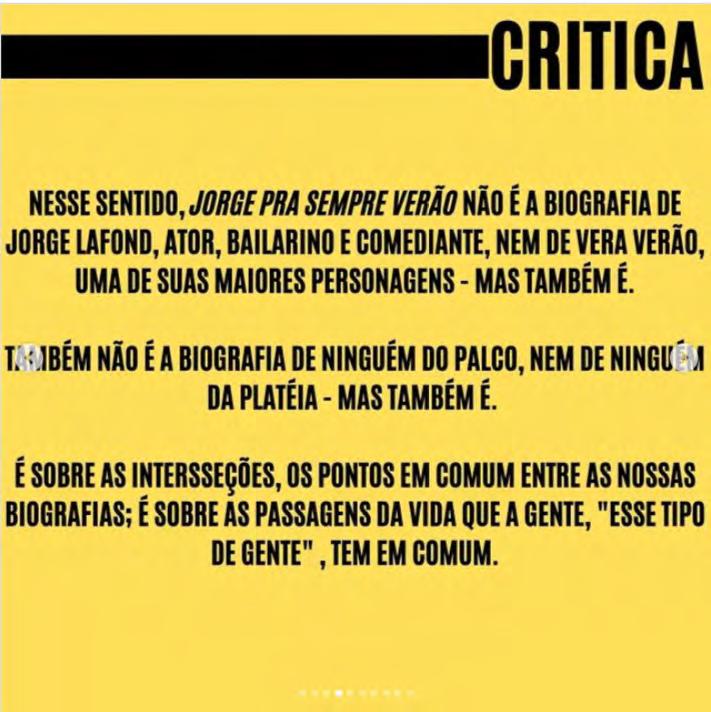
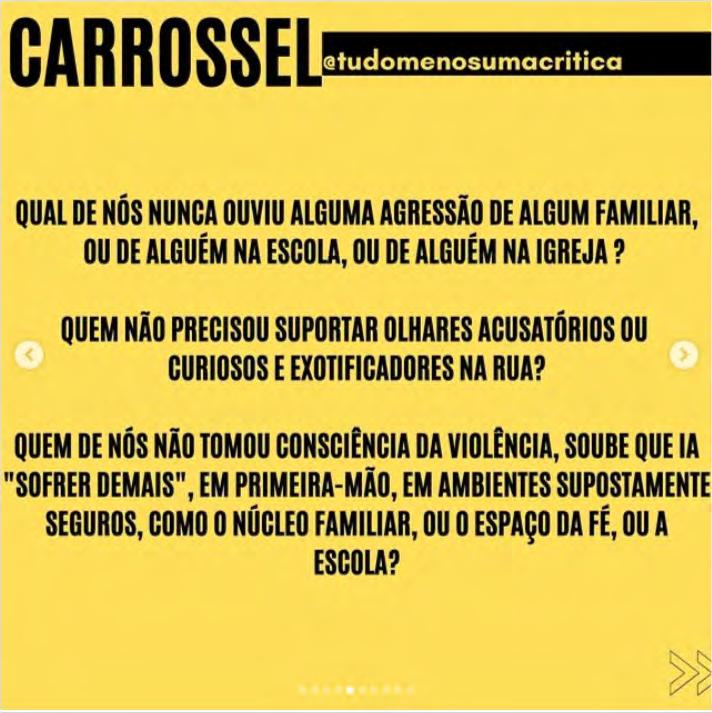
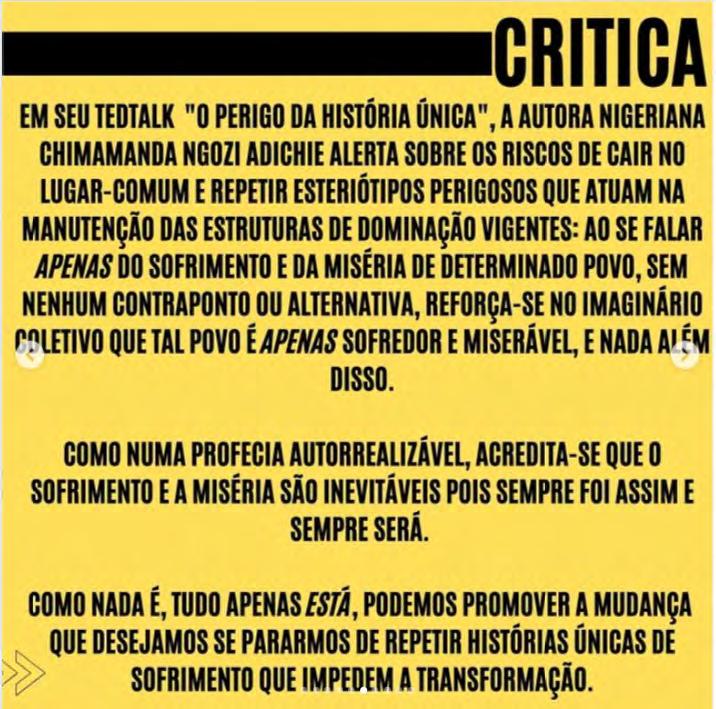

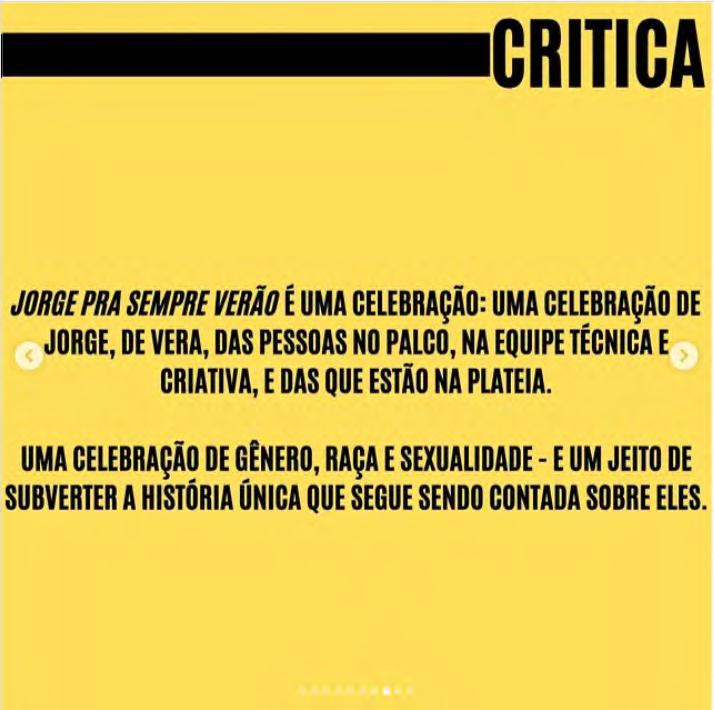
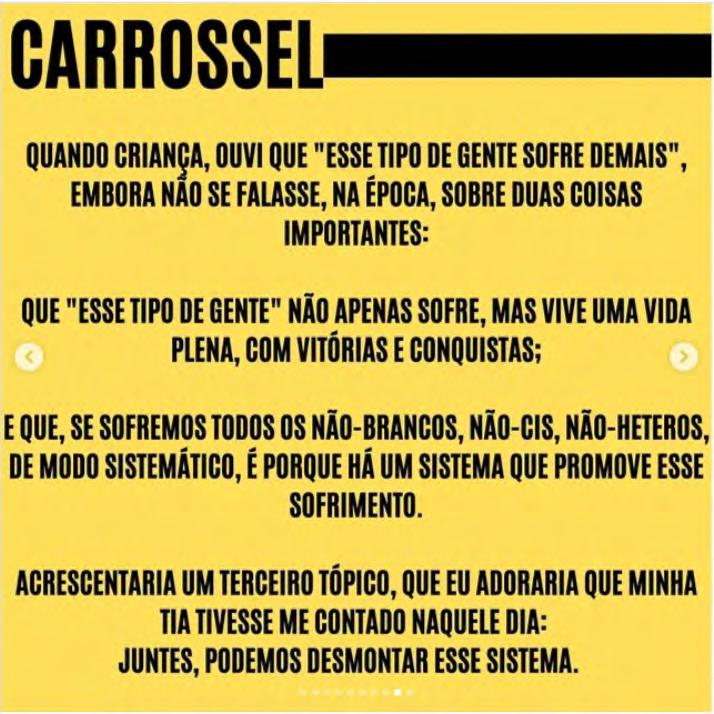


 Foto: Alexia Santana
Foto: Alexia Santana