
Organizadores
Francisco José Borges Motta
Gilberto Morbach


Organizadores
Francisco José Borges Motta
Gilberto Morbach
diálogos sobre a crise das democracias constitucionais
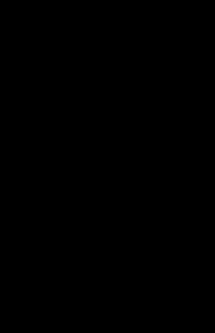
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Jéssica Razia
Ilustração da capa: The Course of Empire: Desolation, 1836, de Thomas Cole. Domínio público, acervo do New-York Historical Society
Eduardo FErrEr Mac-GrEGor Poisot
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações
Jurídicas da UNAM - México
JuarEz tavarEs
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Luis LóPEz GuErra
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
owEn M. Fiss
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA toMás s. vivEs antón
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
Da academia à prática : diálogos sobre a crise das democracias constitucionais [livro eletrônico]. Francisco José Borges Motta, Gilberto Morbach. (org.). -1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2024.
1Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-727-3.
1. Direito constitucional. 2. Crise das democracias. 3. Liberalismo democrático. 4. autoritarismo. I. Título.
CDU: 321.7
Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Organizadores
Francisco José Borges Motta
Gilberto Morbach
diálogos sobre a crise das democracias constitucionais
Entrevistados
Sanford Levinson
Michel Rosenfeld
Ingo Wolfgang Sarlet
Oscar Vilhena Vieira
Mark Tushnet
Lenio Streck
Conrado Hübner Mendes
Bruce Ackerman
Vera Karam de Chueiri
Luís Roberto Barroso

As democracias constitucionais estão em crise? Assumindo que estejam, quais as principais causas para que isso tenha acontecido? E como devemos, os democratas, nos comportar para evitar o pior?
Assim, com essas perguntas abrangentes, propositalmente vagas, e que não comportam respostas simples, é que começou a nossa investigação sobre um dos temas mais examinados nos últimos anos por pesquisadores de diferentes campos de interesse. Da Ciência Política ao Direito Constitucional, passando pela Filosofia Política, pela Sociologia e pela Teoria do Direito, não houve domínio científico associado que não tivesse sido mobilizado a tentar entender o que se passava com Estados que se organizaram politicamente seguindo o figurino do constitucionalismo democrático, a ideologia vitoriosa do século XX1. A variedade de exemplos surgindo por todo o planeta era grande demais para ser ignorada. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Ucrânia, Bielorrússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua e El Salvador, entre outros, foram arrebatados por uma onda populista, extremista e autoritária2. Mas não apenas: também a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, com credenciais democráticas indiscutíveis e com institucionalidade robusta, enfrentariam desafios importantes. Ficavam cada vez mais claros os sinais de que mesmo as democracias sólidas e estáveis não estavam a salvo de surtos populistas, derivados não de conflitos militares ou de tentativas de golpe de estado, mas de fatores como a insegurança econômica e a demografia cambiante de um mundo globalizado3. O Brasil, sabemos, ficaria igualmente longe de passar incólume pela turbulência4.
Como abordar o assunto de maneira consequente?
Duas obras foram particularmente relevantes no início. A primeira, publicada ainda em 2015, por Samuel Issacharoff, Reiss Professor of Constitutional Law da New York University School of Law, chama-se Fragile Democracies: contested power in the era of Constitutional Courts5. A obra é relevante por mais de uma razão, mas ganha aqui um merecido destaque por ter lidado com um assunto análogo (a
1 A expressão é de Luís Roberto Barroso. Ver: BARROSO, Luís Roberto. Populismo, autoritarismo e resistência democrática: as cortes constitucionais no jogo do poder. Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https:// www. e-publicacoes. uerj. br/ index. php/ revistaceaju/ article/ view/ 66178/ 42544. Acesso em: 15 de agosto de 2023.
2 BARROSO, Luís Roberto. Populismo, autoritarismo e resistência democrática: as cortes constitucionais no jogo do poder. Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https:// www. e-publicacoes. uerj. br/ index. php/ revistaceaju/ article/ view/ 66178/ 42544. Acesso em: 15 de agosto de 2023.
3 ISSACHAROFF, Samuel. Democracy Unmoored: Populism and the Corruption of Popular Sovereignty. New York: Oxford University Press, 2023, p7.
4 Ver, por exemplo: SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Democracia em crise no Brasil: valores constitucionais, antagonismo político e dinâmica institucional. Rio de Janeiro: Eduerj, 2020.
5 ISSACHAROFF, Samuel. Fragile Democracies: contested power in the era of Constitutional Courts. New York: Cambridge University Press, 2015.
fragilidade das democracias) desde o ponto de vista do direito constitucional. Isso levou o autor a renovar a clássica pergunta sobre se o Direito tem, ou não, condições de proteger a democracia, considerado o particular contexto de democracias recém-estabelecidas e a atuação concreta das suas cortes constitucionais, criadas justamente para protegê-las. Tomamos emprestadas de Issacharoff a interrogação (Até onde vai a autoridade do Direito para preservar a vitalidade da democracia em uma determinada comunidade política?) e a perspectiva preferencial de abordagem do assunto (o direito e a teoria constitucionais).
A segunda, intitulada Constitutional Democracy in Crisis?6, consiste numa conhecida obra coletiva editada pelos constitucionalistas norte-americanos Mark Graber, Sanford Levinson e Mark Tushnet, publicada em 2018. Trata-se, indiscutivelmente, de um trabalho de referência, talvez o mais relevante produzido, até então, a respeito do assunto. O livro está dividido em 04 partes: background (i), countries and regions (ii), factors (iii) e observations (iv), e entrega uma visão plural, poliglota e abrangente sobre as causas e consequências do que se passa. A partir dele, os contornos do problema a ser endereçado ganhariam maior nitidez, favorecendo a estruturação de um plano de trabalho.
Não estávamos sozinhos, felizmente. Tínhamos conosco os integrantes do grupo de pesquisa Teoria do Direito: da academia à prática, que se reúne regularmente sob os auspícios da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP), com o propósito de discutir os limites e as possibilidades de a reflexão teórica influenciar/iluminar a prática jurídica. Alguns ajustes teriam de ser feitos, já que o grupo havia agrupado, originalmente, pesquisadores e alunos interessados especialmente em teoria do direito — muito em razão da vinculação do projeto de pesquisa subjacente ao conteúdo da disciplina de Teoria do Direito, ministrada no curso de Mestrado acadêmico da FMP. Mas todos compreenderam desde logo a atualidade e relevância do assunto, tendo sido convencidos, a final, da pertinência de abordá-lo a partir de uma perspectiva que integraria suas naturais preocupações teóricas com uma abordagem necessariamente prática e concreta. As primeiras leituras trataram de nos familiarizar com a conceitografia articulada pelos pesquisadores do campo. Precisávamos compreender — e tornar operacionais — conceitos políticos relevantes, como populismo, extremismo e autoritarismo. Tínhamos de nos apropriar de concepções que se tornaram recorrentes, como as de democracias iliberais7 , constitucionalismo abusivo8 e recessão democrática9, para citar apenas estas. O próprio conceito de crise teve de ser co-
6 GRABER, Mark A., LEVINSON, Sanford, and TUSHNET, Mark. Constitutional Democracy in Crisis? New York: Oxford University Press, 2018.
7 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. How democracies die. New York: Crown, 2018.
8 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism. UC Davis Law Review, v. 47, n. 1, p. 189-260, 2013.
9 DIAMOND, Larry. Facing up to the democratic recession. Journal of Democracy, n. 26, p. 141, 2015.
locado em perspectiva10. E, na medida em que a caminhada avançava, não foi sem alguma surpresa que nos vimos às voltas com a necessidade de retomar os fundamentals de noções básicas traduzidas pelos conceitos de democracia, Estado de Direito, liberalismo político, justiça constitucional e constitucionalismo.
A bibliografia mostrou-se infinita, e foi desde best-sellers como o onipresente Como as Democracias Morrem11, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, passando pela ciência política especializada, como no ótimo Populism and Civil Society: The Challenge to Constitutional Democracy, de Jean Cohen e Andrew Arato12, combinados com abordagens complementares e indiretas, como a filosofia política de Matthew Kramer em Liberalism with Excellence13 e o anticonstitucionalismo de Martin Loughlin em Against Constitutionalism14. Conceitos básicos foram revisitados e reconstruídos a partir da sua trajetória histórica, como o de Rule of Law, pela mão de Brian Tamanaha15, e o de democracia, com o auxílio de David Stavasage16. Não ficaram de fora os insights de Ronald Dworkin, no seu premonitório Is Democracy Possible Here?17, de 2006, e nem visões mais específicas sobre a situação do Brasil, como em A Batalha dos Poderes, de Oscar Vilhena Vieira18. O papel das cortes constitucionais e demais instituições de proteção à democracia, por sua vez, foram contemplados por Mark Tushnet, em The New Fourth Branch19 e por Luís Roberto Barroso, em Populismo, autoritarismo e resistência democrática: as cortes constitucionais no jogo do poder20, entre outros tantos. Importante também foi a pesquisa de Theunis Roux sobre a acumulação de capital político por parte das Cortes Constitucionais, tendo a África do Sul como pano de fundo, em The Politics of Principle21 . E, quando parecia que já tínhamos lido o suficiente para intervirmos de modo consequente no debate público, sempre surgia algo novo, original e indispensável, como o recente Democracy Unmoored, de Samuel Issacharoff22.
O que fazer? Nesse momento de uma certa paralisia diante do desafio de traduzir nossa inquietação, e algo intimidados com o tamanho da tarefa, lembra-
10
BALKIN, Jack M. Constitutional Crisis and Constitutional Rot. Maryland Law Review (1936) 77.1 (2017): 147.
11 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. How democracies die. New York: Crown, 2018.
12 ARATO, Andrew; COHEN, Jean. Populism and Civil Society: The Challenge to Constitutional Democracy. New York, NY: Oxford University Press, 2022.
13 KRAMER, Matthew H. Liberalism with Excellence. Oxford: Oxford University Press, 2017.
14
LOUGHLIN, Martin. Against Constitutionalism. Cambridge, Massachusetts and London: Havard University Press, 2022.
15 TAMANAHA, Brian Z. On The Rule of Law. New York: Cambridge University Press, 2009.
16 STAVASAGE, David. The Decline and Rise of Democracy. Princeton: Princeton UP, 2020.
17 DWORKIN, Ronald. Is Democracy Possible Here?: principles for a new political debate. Princeton: Princeton University Press, 2006.
18 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Batalha Dos Poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2018.
19 TUSHNET, Mark. The New Fourth Branch. Cambridge: Cambridge UP, 2021.
20 BARROSO, Luís Roberto. Populismo, autoritarismo e resistência democrática: as cortes constitucionais no jogo do poder. Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https:// www. e-publicacoes. uerj. br/ index. php/ revistaceaju/ article/ view/ 66178/ 42544. Acesso em: 15 de agosto de 2023.
21 ROUX, Theunis. The Politics of Principle. Vol. 6. New York: Cambridge UP, 2013.
22 ISSACHAROFF, Samuel. Democracy Unmoored: Populism and the Corruption of Popular Sovereignty. New York: Oxford University Press, 2023
mos de uma aula do Professor Lenio Streck, tratando do conceito de autoridade na obra de Gadamer. Autoridade não se outorga, se conquista. Por que é que vocês perguntam para quem sabe?
Perguntar para quem sabe. Eis aí um bom caminho.
...
O maior perigo, para a maioria de nós, não está em mirar muito alto e errar, mas em mirar muito baixo, e acertar.
A conhecida máxima acima, atribuída ao gênio renascentista Michelangelo Buonarroti, presidiu a nossa ação a partir de então. A FMP prontamente comprou a ideia de permitir que usássemos o canal FMP Cast, um podcast veiculado pela Faculdade de Direito, para que divulgássemos uma série de entrevistas com autoridades no tema da crise das democracias constitucionais. A atividade tinha clara vinculação com os propósitos do grupo de pesquisa: estava dada a oportunidade de contribuir para o debate público, para a prática, a partir de uma perspectiva acadêmica e especializada. Da academia à prática.
Miramos muito alto — e, felizmente, acertamos boa parte dos disparos. Graças a esforços variados23, tivemos a chance de entrevistar dois dos organizadores do já citado Constitutional Democracy in Crisis?, os célebres Professores Sanford Levinson e Mark Tushnet, da Harvard Law School. Ainda no campo estrangeiro, conversamos longamente com o aclamado Professor Bruce Ackerman, da Yale Law School e, pessoalmente, com o conhecido Professor Michel Rosenfeld, que gentilmente nos recebeu em seu gabinete de trabalho na Cardozo Law School.
Alguns dos principais constitutional scholars do Brasil também aceitaram o nosso convite para o diálogo. Os Professores Ingo Sarlet (PUCRS) e Lenio Streck (UNISINOS), que figuram em todas as listas de autores brasileiros mais citados no campo do Direito Constitucional e da Teoria e Filosofia do Direito, foram os representantes do Rio Grande do Sul, de onde a maior parte das entrevistas foi gravada. Do Paraná, a Professora Vera Karam de Chueiri (UFPR), uma pensadora pública refinada e provocativa, nos conduziu pelos caminhos da reflexão sobre a militância e o progressismo constitucionais. De São Paulo, os Professores Conrado Hübner Mendes (USP) e Oscar Vilhena Vieira (FGV), constitucionalistas acostumados a traduzir a complexidade de assuntos técnico-jurídicos delicados em termos compreensíveis ao leitor não especializado em direito constitucional, nos brindaram com reflexões claras, organizadas e pertinentes sobre o cenário brasileiro durante e pós-governo Bolsonaro. E, para arrematar, falamos com o Professor e Ministro do Supremo Tri-
23 Agradecer é sempre uma tarefa difícil e potencialmente injusta, porque invariavelmente ficam de fora, por lapsos de memória e falta de espaço, pessoas e instituições sem as quais nada disso teria sido possível. Mas não podemos deixar de registrar, pelo mínimo, um agradecimento sincero a todos os integrantes do grupo de pesquisa e aos amigos que viabilizaram o contato com os entrevistados, estimulando-os a aceitarem o convite.
bunal Federal Luís Roberto Barroso, que, como diria David Letterman, needs no introduction. Um dos pensadores públicos mais lúcidos e elegantes do Brasil.
Em suma, conseguimos perguntar para quem sabia.
...
Com a publicação desse trabalho, as respostas que nos foram dadas ficam, além de disponíveis ao público, devidamente documentadas. Em conjunto, fornecem um repertório variado, e veiculado de forma razoalvemente leve e informal, de perspectivas sobre a realidade e de alternativas para o futuro. Desde propostas de uma nova constituinte, seja para os Estados Unidos (Sanford Levinson), seja para o Brasil (Bruce Ackerman), passando por uma visão caridosa (Mark Tushnet) e por um apanhado de visões críticas (Michel Rosenfeld, Luís Roberto Barroso) a respeito do populismo, e aterrissando em reflexões entregues a quente sobre a situação do Brasil nos anos Bolsonaro (Ingo Sarlet, Lenio Streck, Conrado Mendes, Oscar Vilhena e Vera Karam), não houve assunto proibido.
A propósito, ajuda ter presente que todas as entrevistas foram concedidas entre os meses de outubro e dezembro de 2022, ou seja: refletem opiniões contemporâneas ao último período eleitoral brasileiro, caracterizado, sabemos todos, por uma profunda polarização político-eleitoral, agudizada pela postura abertamente hostil à institucionalidade do Presidente da República naquele momento incumbente. Esse pano de fundo não deve ser desconsiderado, na medida em que fornece uma espécie de chave de leitura dos textos aqui divulgados.
Esperamos, enfim, que o trabalho seja recebido como aquilo que se propôs a ser: o testemunho de um período difícil e desafiador. E, sobretudo, uma tentativa genuína de nos desincumbirmos da responsabilidade de tornar o debate público a respeito disso tudo mais informado.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
Cambridge, UK e São Paulo, BR. Agosto de 2023.
Francisco José BorGEs Motta24
GiLBErto MorBach2524 Doutor e Mestre em Direito Público pela Unisinos. Pesquisador visitante junto à Columbia Law School (2013) e ao Cambridge Forum for Legal and Political Philosophy, na Universidade de Cambridge (2023). Professor da Faculdade de Direito da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP), graduação e mestrado. Promotor de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul. e-mail: chicomotta@terra.com.br
25 Doutor e Mestre em Direito, summa cum laude, como bolsista do CNPq, pela Unisinos. Pesquisador visitante, como bolsista da CAPES, junto ao Cambridge Forum for Legal and Political Philosophy, na Universidade de Cambridge (2021-22). Pesquisador de pós-doutorado, como bolsista da FAPESP, no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. e-mail: gmorbach@usp.br
Entrevista com o Professor Sanford Levinson, professor no Departamento de Governo (Government) e professor de direito titular da Cátedra Centenária W. St. John Garwood e W. St. John Garwood Jr na Universidade do Texas, em Austin. É professor visitante de direito na Escola de Direito de Harvard e, por fim, mas não menos importante, é casado com Cynthia Levinson, premiada autora na literatura infantil, com quem ele escreveu um belo livro chamado Fault Lines in the Constitution: The Framers, Their Fights, and the Flaws that Affect Us Today (“Rachaduras na Constituição: Os Constituintes, suas Lutas, e as Lacunas que nos Afetam Hoje”), que é também direcionado a um público mais jovem.
Professor Levinson, bem-vindo a nosso podcast.
Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui.
Professor, como já lhe mencionei, coordeno um grupo na Fundação do Ministério Público, onde leciono no Brasil, voltado atualmente ao tema da crise nas democracias constitucionais. Um dos primeiros, senão o primeiro livro que lemos enquanto grupo foi Constitutional Democracy in Crisis? (“A Democracia Constitucional em Crise?”),1 coletânea editada pelo senhor com Mark Graber e Mark Tushnet. Deixe-me começar com a pergunta padrão, bastante ampla: a democracia constitucional está em crise? Se sim, quais são as principais razões para isso?
Muito bem... o livro que editamos, publicado em 2018, trazia um ponto de interrogação. Estamos agora em 2022 e acho que já podemos abandoná-lo. Penso já estar claro que, ao redor do mundo, há vários tipos de crises, não uma única crise. Isso porque as condições presentes podem depender de histórias particulares, de circunstâncias particulares, do país que estiver em questão e sobre o qual estivermos falando. Temos também aspectos globais: a própria globalização, imigração, mudanças climáticas, riscos e pressões de guerras internacionais — que geralmente tínhamos como uma espécie de anacronismo, mas agora, com a invasão russa à Ucrânia e ameaças chinesas a Taiwan, tudo parece se tornar mais incerto. Um dos pontos de nosso livro é o de que há muitas causas diferentes que
podem ser atribuídas a tudo isso. Como membro de um departamento de ciência política, enquanto cientista político, não hesito em dizer que nos devemos manter afastados de qualquer ideia ou direção que aponte a uma única causa, como se tudo estivesse interligado e a dificuldade fosse a de identificar o peso de cada fator particular.
Em meu ensaio para o livro, escrevi sobre como o [ex-presidente dos EUA] Woodrow Wilson acabou sendo a mais importante figura política do século XX, maior até — eu sustento — do que Lenin. Isso porque foi Wilson quem realmente valorizou a noção de soberania popular, a de que cada grupo tem direito a um país e sua própria autonomia política. Eu penso que esse é um dos pontos centrais para compreendermos o ataque à democracia pluralista constitucional, que é o que me parece realmente ser sobre o que estamos falando — um sistema político que reconhece o pluralismo, de modo que mesmo que, sociologicamente, haja um grupo dominante, o grupo dominante não tem um direito automático ao exercício do poder ou comando simplesmente porque dispõe de mais pessoas em relação a outros grupos minoritários.
Penso que, ao redor do mundo, vemos ressurgir uma espécie de nacionalismo popular, o argumento em favor de uma soberania popular nacional. Em alguns casos, vemos coisas como o desejo de secessão, por exemplo (não sei dizer se há qualquer movimento organizado mais robusto de secessão no Brasil, mas o Brasil é certamente grande e pluralista o suficiente para que isso não fosse algo a causar surpresa). Tivemos artigos nos últimos dias, por exemplo, sobre as eleições italianas. A eleição na Itália parece ter devolvido um partido neofascista ou criptofascista, em maior ou menor grau, ao poder — um partido declaradamente nacionalista, anti-imigração. Tom Edsall, que escreve uma brilhante coluna no New York Times, discutiu recentemente o iliberalismo político liderado por Viktor Orbán, que definiu o iliberalismo em parte como algo a rejeitar o pluralismo: sua visão de Hungria é de uma nação cristã que fechará suas fronteiras para quem for percebido como outsider. Outros que estejam na Hungria podem até ser tolerados, mas não podem ser confundidos com membros verdadeiros da comunidade húngara. Vemos isso na Polônia e, de algum modo, penso que ao redor do mundo: a busca por uma espécie de pureza nacional, a rejeição do pluralismo político e cultural. Dedico muita atenção a isso. Há outros que também direcionam um foco aos crescentes índices de desemprego em razão da automatização, da globalização — e, assim, aos ressentimentos, à angústia das classes média ou trabalhadora, certamente fatores centrais. Há fatores locais como, simplesmente, o papel do dinheiro na política: não conheço suficientemente o Brasil para saber o quanto isso é um fator no país, mas, sem dúvida,
nos Estados Unidos, onde o dinheiro é tratado como algo equivalente à expressão, bilionários — não só milionários, bilionários — exercem um papel desproporcional na decisão sobre quem pode mesmo se candidatar em primeiro lugar. Organizar campanhas é algo muito caro. Enfim... tudo isso, somando-se a demagogos bastante talentosos, que aprendem uns com os outros. Berlusconi, Donald Trump, Orbán, Boris Johnson, Bolsonaro. Todos eles têm talentos, genuínos, como demagogos políticos. Acho que admiram uns aos outros, aprendem uns com os outros. Um pouco disso pode ser que seja simplesmente o caso de que há menos talento político hoje em dia entre os defensores da democracia pluralista constitucional. Não sei se apenas um único desses fatores é suficiente para explicarmos a dimensão, a percepção de crise, mas todos eles somados são capazes de deixar qualquer um bastante pessimista com relação ao futuro.
Também diria o seguinte: quando falamos em uma crise na democracia liberal, há uma pergunta anterior que não é sequer levantada. Quão democráticos, genuinamente, são esses sistemas, mesmo em suas melhores versões? Escrevi um livro, há quinze anos, chamado Our Undemocratic Constitution (“Nossa Constituição Não-Democrática”),2 no qual sustento que, em termos de teorias da democracia do século XXI, os Estados Unidos estão muito distantes do cenário de um país democrático. Acho que isso se aplica a vários, não a todos mas a vários países que se apresentam como democráticos. Fica muito claro que os Estados Unidos não têm a disposição de dizer ‘veja bem, nós somos uma democracia extremamente falha, não é exatamente claro que já tenhamos efetivamente sido uma democracia’. Tenho amigos que argumentam, penso que de modo bastante persuasivo, que uma maioria da população americana sequer teve o direito de votar durante muito tempo; em 1920, as mulheres passaram a ter direito ao sufrágio, mas afro-americanos, especialmente no sul do país, não tinham direito efetivo de voto até 1965. Nos Estados Unidos, é possível ver pressões políticas causadas por acréscimos fundamentais ao corpo do eleitorado, à rede de pessoas que se sente justificadamente titular de um direito à participação na política — e isso é bastante desconfortável às pessoas que se acostumaram a decidir as coisas. Acontece que também é o caso que, nos Estados Unidos, mais do que em outros países, há vários poderes de veto que dificultam ao extremo o exercício genuíno de governo, até para maiorias políticas. Temos um sistema bicameral bastante peculiar; o Senado, em particular,
é grotescamente desproporcional em termos do poder dado a estados menores e, do ponto de vista interno, relativamente rurais, relativamente mais velhos, relativamente mais religiosos. O veto presidencial é um fator central na política americana: mesmo que determinada legislação seja aprovada pelo Congresso, não há qualquer garantia de que esta será sancionada pelo presidente. Há também, é claro, como a maior parte das pessoas sabe, temos uma Suprema Corte incomumente forte que, hoje, é controlada firmemente por uma maioria bastante, bastante conservadora. O ‘excepcionalismo americano’ é uma expressão que se tornou comum, mas pode ser que os Estados Unidos estejam no extremo em um lado do espectro, no que diz respeito aos impedimentos possíveis ao que pode ser visto como um exercício genuinamente democrático de poder. Acho que isso pode explicar parte do ódio e do ressentimento entre grande parte da população em meio ao grande espectro político.
Quero trazer então, Professor, uma pergunta específica sobre a Constituição dos Estados Unidos. Há uma hipótese, explorada no livro que mencionei, no sentido de que problemas constitucionais nos EUA podem estar alimentando preocupações sobre o estado da democracia constitucional: quando Donald Trump derrotou Hillary Clinton pelo colégio eleitoral, a disfuncionalidade do sistema americano foi colocada, de acordo com o senhor, sob uma luz “diferente e particularmente incômoda”. Cito isso do livro escrito pelo senhor com Jack Balkin, professor de Yale, Democracy and Dysfunction (“Democracia e Disfunção”).3 Considerando esse ponto, e sua última resposta, quão preocupado o mundo deve estar em relação à saúde constitucional norte-americana? Claro, Trump não é mais o presidente, mas o ‘trumpismo’ tem um efeito persistente. Com certeza, o ‘trumpismo’ segue vivo e forte. Penso que há duas razões para preocupação. Uma delas é simplesmente o papel que os Estados Unidos sempre exerceu como um tipo de “inspiração”, ou pretensa inspiração, ao mundo quanto às possibilidades de governo por meio de consentimento dos governados. Isso remonta à Declaração de Independência, a ideia de que os EUA têm uma “missão” de mostrar que o governo democrático é algo possível, que 1776 foi uma revolta contra uma forma monárquica, aristocrática de governo, que é em nome do exercício do poder pelo povo que a Constituição começa com “We, the People”. Sempre houve essa dimensão ideológica em relação à qual o resto do mundo pode vir a sentir um certo ressentimento, talvez justificadamen3
te. Não acho que seja possível compreender a concepção que os Estados Unidos tem de si mesmo enquanto país sem essa ideia. Abraham Lincoln disse, em 1861, ser particularmente importante que, nos EUA, o governo nacional prevalecesse na Guerra Civil, porque ‘o mundo inteiro’ estaria assistindo. Há uma ideia de que se a democracia liberal fracassa nos Estados Unidos, então ela fracassará em todo em qualquer lugar. Isso, claro, foi um pouco depois de 1848, um pouco depois da supressão de uma série de revoluções democráticas na Europa; Lincoln refere-se nesse contexto aos Estados Unidos como “a última melhor esperança” da humanidade. Há essa ideologia.
Mas há também o fato de que os Estados Unidos, para o bem e para o mal, são um ‘gorila de 800 libras’:4 o que acontece nos EUA não fica nos EUA. Um artigo-principal recente no New York Times tratou sobre como as taxas de juros determinadas pela Reserva Federal, designadas para enfrentar problemas reais de inflação, têm todo tipo de efeito ao redor do mundo todo — por exemplo, ao ponto de, dada a alta de preços, influenciar na capacidade que fazendeiros na África têm de conseguir comida ou provisões agrícolas de que precisam. Não é como acontece com países menores, onde aquilo que acontece acaba naturalmente tendo um interesse reduzido e onde crises e problemas podem ser contidos mais facilmente por representarem algo menor na política econômica global. Não sei quem disse isso primeiro, quem começou dizendo isso, mas se os EUA espirram, é bem possível que alguém na África ou na Ásia fique resfriado. Essa é uma realidade prática. Se, Deus nos livre, Trump viesse a retornar — talvez não importe se fosse ele o reeleito ou se um ‘trumpista’ fosse eleito —, penso que poderia haver até uma aliança entre Viktor Orbán e os EUA, porque ambos compartilhariam dessa visão iliberal de uma ordem constitucional. Quem sabe quais seriam as consequências?
Penso que o governo Biden torça para a derrota de Bolsonaro e que ‘trumpistas’ torçam por ele, e que talvez não ficassem assim tão chateados se houvesse um golpe militar ou algo do tipo: não estamos falando de pessoas com apreço pela democracia pluralista. Penso que, mesmo se não houvesse esse aspecto ideológico que remonta à independência, com essa autoapresentação dos EUA ao longo da história, ainda assim seria um país grande demais para ser ignorado.
Obrigado, Professor. Tenho outra pergunta sobre esse assunto. Citei há pouco seu livro, Democracy and Dysfunction — livro interessantíssimo, no qual o senhor desenvolve uma conversa muito instigante com o Professor Balkin sobre a prática americana, sobre os vícios e virtudes da Constituição dos EUA. Balkin é reconhecido por sustentar que os EUA sofrem de um ‘apodrecimento’, uma degradação constitucional (“constitutional rot”). Para ele, isso é mais leve que uma crise, no sentido de que uma crise ocorreria apenas em situações nas quais os desacordos ultrapassam as fronteiras da política comum, transformando-se em anarquia, violência, guerra civil. O senhor, por outro lado, argumenta que a Constituição dos Estados Unidos é fundamentalmente defeituosa. O senhor poderia explicar as razões, e quais são as principais ‘rachaduras’ na Constituição?
Penso que, se você falasse hoje com Jack [Balkin], ele estaria menos otimista do que estava quando conversávamos nos ‘velhos tempos’ de 2016 e 2017. Deixe-me destacar duas ou três rachaduras principais. Embora seja verdade que o livro que escrevi com minha esposa5 seja destinado a adolescentes, indiquei-o ontem mesmo a um curso que conduzi na Escola de Direito de Harvard sobre reforma constitucional. A razão é muito simples: o que diferencia nosso livro é um foco dedicado e voltado em ampla medida a questões estruturais, não a cláusulas e provisões de direitos. Eu acredito que os americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, se perguntados para que serve a Constituição, voltar-se-iam imediatamente aos direitos constitucionais: liberdade de expressão, religiosa etc. Os elementos estruturais da Constituição são tratados cada vez mais como algo entediante, chato, ao menos nos EUA — não sei como é no Brasil. Nos EUA, os alunos sofrem nas aulas de direito constitucional que tratam da estrutura constitucional e, por essa razão mesma, aquilo sobre o qual seus próprios professores acabam querendo tratar são as disposições de direitos: assim podemos discutir armas, aborto, ações afirmativas, discurso de ódio, liberdade religiosa, isso é o que empolga as pessoas. Eu gosto de direitos, penso que são importantes. Mas acho que, em muitos aspectos, as seções mais importantes da Constituição são aquelas que dispõem e estabelecem as estruturas básicas de governo, incluindo uma explicação, antes de tudo, sobre quais são os ofícios fundamentais no governo: temos um sistema presidencial ou parlamentarista? Nossos países, os dois, sofrem de sistemas presidenciais. Como você sabe, há debates reais sobre
se sistemas presidenciais não têm uma certa predisposição à demagogia ou ao autoritarismo. Não sei se há resposta determinante, mas o ponto central aqui é que o presidente dos EUA, ou do Brasil, não é eleito pela legislatura, mas eleito em uma eleição separada, podendo reivindicar assim o mandato popular; o primeiro-ministro não pode fazer essa reivindicação, o ponto máximo até onde ele pode ir é dizer que seu partido foi escolhido.
Na maioria dos países, o primeiro-ministro deve ter assim uma preocupação real no sentido de não perder a confiança do partido para não ser expulso. Isso aconteceu com Boris Johnson, aconteceu surpreendentemente com Margaret Thatcher, talvez a mais importante figura política britânica no pós-Guerra que foi simplesmente expulsa em 1990 quando o Partido Conservador passou a vê-la como um risco eleitoral. Num sistema presidencial, é possível tentar um processo de impeachment, algo que não funciona bem nos Estados Unidos — você saberia dizer melhor do que eu o quanto ele é um mecanismo funcional e efetivo no Brasil, sei que o parlamento já afastou presidentes —, mas isso esbarra numa questão básica: accountability é sempre algo incerto. Se você tem um presidente no qual não se pode confiar, digamos que seu nome seja Donald Trump, basicamente não há nada que você possa fazer para se livrar dele até a próxima eleição. Sob algumas circunstâncias, isso é uma rachadura. É muito diferente de um mero desejo de que o presidente fosse outro, um cenário no qual basta esperar pela próxima eleição. Isso deve ser distinguido da preocupação genuína sobre quem é presidente, e sobre se há algum mecanismo efetivo para seu afastamento quando for o caso.
Em relação ao Senado, há duas coisas. Antes de tudo, o sistema bicameral, que, por definição, torna muito mais difícil o processo de aprovação de algum estatuto ou legislação. Mas a forma americana de bicameralismo é bastante diferente de outros ao redor do mundo. Se compararmos o sistema com outros países, veremos, antes de tudo, que cada Casa tem um poder mortífero de veto sobre a outra. Há sistemas bicamerais ao redor do mundo nos quais geralmente a câmara superior tem o poder de atrasar a legislação, ou exercer algum papel no processo, mas não pode simplesmente pará-la se a outra câmara insiste nela. Mesmo em países nos quais a segunda câmara pode bloquear o processo legislativo, é possível conceder, em alguma medida, uma certa justiça em seu aspecto de representação.
Os Estados Unidos são um país grande demais para ser governado por uma única câmara, não sou a favor de um modelo como o neozelandês ou o britânico para os EUA, penso que há virtudes no bicameralismo —
mas acho que não há virtude no modelo de Senado americano, pela razão que mencionei há pouco. Wyoming, com 550 mil habitantes, tem os mesmos dois votos que a Califórnia, com 40 milhões de pessoas. Texas, com 28 milhões de pessoas, tem os mesmos dois votos que Vermont, que tem 650 mil. Não há modo de defender isso em termos de teoria política do século XXI. Em verdade, o próprio James Madison, em 1787, descreveu essa característica do Senado como “má”. Ele seguiu, porém, e sustentou que, ‘bem, é um mau menor, já que o mau maior seria o colapso do projeto constitucional’. Como a escravidão: muitas pessoas eram contrárias à escravidão em 1787, mas o que diziam é que, ‘bem, não teremos uma Constituição se não cedermos e firmarmos um compromisso com os donos de escravos’. A mesma lógica foi o que levou a esse compromisso com estados menores. Mas Madison tinha razão: a alocação de poder no Senado é um grande mau. Em grande parte do tempo é possível dizer que, ‘bem, cientistas políticos falam isso, mas, na prática, o Senado não é tão mau assim’. Agora, percebemos mais e mais que o Senado é um cemitério para muita legislação necessária e que conta com apoio da maioria na Câmara, mas morre no Senado — algo que se deve também a uma regra bastante peculiar nos EUA, o “filibuster”:6 são necessários 60 votos para que a proposta seja votada. 41 senadores podem bloquear o processo, e esses 41 senadores podem vir de estados com 30% da população, até menos. Essa é uma rachadura enorme no caminho de um governo que seja democrático. Penso também que é uma questão que faz com que pessoas de qualquer lado no espectro político se sintam alienadas do processo, já que estas se veem como vencedoras de uma eleição, esperando assim que coisas maravilhosas aconteçam, já que seu partido controla a Câmara, o Senado e a presidência; acontece que não significa tanto quanto parece. A palavra “controla” precisa vir entre aspas, dada a dificuldade de se aprovar legislação. Republicanos que controlavam a Câmara, o Senado e a presidência em 2017 e 2018 não foram capazes de, efetivamente, rejeitar o ‘Obamacare’. Pessoalmente, fico feliz que não tenham conseguido, mas isso certamente levou a uma frustração na direita: venceram a eleição, mas não puderam consolidar aquele que era um dos grandes projetos do partido. Democratas controlam hoje o Congresso e a presidência, mas Joe Biden só consegue implementar parte do seu programa, e muitos democratas agora ficam revoltados. Há uma questão muito genuína a ser enfrentada em novembro, nas eleições de meio de mandato, e também em 2024: muitas pessoas mais jovens
começarão a questionar qual é o sentido em votar, já que eleições não significam tanto assim.7
Eu diria também que, de certa forma, a principal rachadura é a dificuldade extraordinária para se aprovar emendas à Constituição dos Estados Unidos, pelo procedimento do Artigo V. A Constituição estadunidense é hoje a constituição mais difícil de se emendar no mundo. Isso tem duas consequências: uma delas é óbvia, você não tem tantas emendas. Se alguém acredita, e é o meu caso, que precisamos de emendas constitucionais, acabamos esbarrando na parede. Tome como exemplo o colégio eleitoral: duas vezes neste século os EUA colocaram no Salão Oval o candidato que ficou em segundo no voto popular, Bush em 2000 e Trump em 2016. Desde 1944, toda pesquisa mostra que uma maioria da população americana é contrária ao colégio eleitoral. Ainda o temos, 80 anos depois dessas primeiras pesquisas. Por quê? Pela extrema dificuldade de se emendar a Constituição. Não importa se a maioria quer acabar com ele, é preciso passar pelo processo de se conseguir apoio de dois terços de cada casa no Congresso, e então o apoio das legislaturas estaduais de 38 dos 50 estados. Isso é muito difícil em questões controversas e que têm consequências para a distribuição de poder político. Esse é um aspecto prático do Artigo V: a dificuldade nas emendas. Já argumentei que o Artigo V nos torna burros, e nos tira a disposição mesmo de discutir sobre a necessidade de reformas constitucionais, porque isso é algo que parece simplesmente impossível. Há uma expressão que diz que se algo não está estragado, então não tente consertar. Faz sentido: se olharmos em volta, não precisamos engajar mecanismos políticos complicados se algo não está estragado. Mas o que eu faço é inverter a expressão: se não há como consertar, fingimos que não está estragado. O Artigo V gera um viés psicológico, extremamente perigoso, a partir do qual percebemos a dificuldade de reformas constitucionais ao nível da quase impossibilidade — de modo que se torna tentador dizer que não precisamos de reforma constitucional, ‘as coisas não estão tão ruins assim’. Uma das coisas ruins é o próprio Artigo V. Sei que o Brasil redesenhou sua constituição na década de 1980, e já li que há pedidos por uma reforma constitucional, particularmente quanto a questões relacionadas ao impeachment. Penso que você, e virtualmente todo mundo não apenas neste hemisfério como no mundo todo, esteja acompanhando o Chile com bastante atenção. Qual é a lição que tiramos do que parece ter sido um fracasso ao menos da tentativa inicial de uma transformação constitucional radical? Olhamos a países ao redor do mundo e vemos ao menos um desejo de se
discutir reformas constitucionais, para o bem e para o mal — isso é outra questão. Pode fracassar ou ter êxito; o ponto é que vemos discussão, sobre direitos e, fundamentalmente, sobre estruturas básicas. Nos EUA, não há essa discussão, porque a reforma constitucional é vista como uma impossibilidade prática e, para mim, essa é a principal rachadura nisso tudo.
Com relação a esse assunto em particular, ainda que se trate de exercício de imaginação — dadas as dificuldades do Artigo V, que o senhor acaba de mencionar —, o senhor não teria medo dos resultados de uma nova convenção constitucional nos EUA? É truísmo dizer que o clima político hoje é polarizado, mas mais do que isso, o clima parece tomado por ódio, intolerância, extremismo... o compromisso mútuo parece algo muito improvável em um ambiente assim, e sei que essa é uma pergunta frequentemente direcionada ao senhor, mas o senhor não teme os possíveis resultados de uma convenção constitucional, especialmente nos dias atuais?
Certamente. Como você deve saber, o penúltimo capítulo do livro que minha esposa e eu escrevemos é um debate entre nós dois, sobre se ter ou não uma nova convenção. Eu digo que sim, ela diz que não. Eu geralmente trago o seguinte ponto: não é apenas o caso de que eu não consegui convencer minha própria família sobre uma nova convenção constitucional. A maioria dos meus colegas e meus amigos concordaria. Acontece que não é como se eu não compartilhasse desses medos. Eu tenho mais medo de simplesmente torcer para que o status quo não seja, ele próprio, autoimplosivo; de simplesmente torcer para que ele não nos destrua. Todas as constituições são um teste de aversão aos riscos. Há boas razões para que temamos a democracia com ‘d’ minúsculo, o simples governo da maioria, de modo que pensamos em todos os tipos de mecanismos de vetos, de impedimentos... por outro lado, se você tem uma certa fé no juízo popular, ainda que você saiba que ele pode estar errado em certas vezes, você constrói menos barreiras. Eu penso que, esteja você falando sobre arquitetura constitucional no nível mais básico ou sobre novas convenções, você estará sempre medindo suas próprias preferências e aversões aos riscos, isto é, aquilo do qual você mais tem medo. Eu temo mais as consequências da manutenção daquilo que eu classifico como uma constituição perigosamente disfuncional. Outras pessoas compartilham de sua visão, então me permita responder a seu questionamento mais diretamente, sobre por que eu não temo a chama-