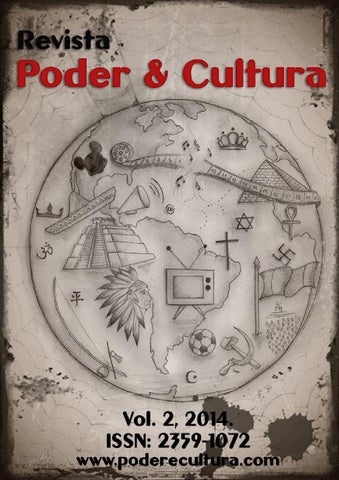Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ISSN: 2359-1072
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
REVISTA PODER & CULTURA ISSN: 2359-1072 Conselho Editorial Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira (Editor Chefe) — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Prof. Ms. Leandro Couto Carreira Ricon (Editor Executivo) — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Prof. Ms. Leonardo Montanholi dos Santos — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Mestranda Quezia Brandão — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História, São Paulo (SP), Brasil. Graduanda Beatriz Moreira da Costa— Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Conselho Consultivo Nacional: Prof. Dr. Alexander Martins Vianna – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Prof. Dr. Alexandre Busko Valim — Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Prof.ª Dr.ª Ana Paula Torres Megiani — Universidade de São Paulo (USP) Profa. Dra. Angélica Müller — Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) Prof. Dr. Antonio Carlos Amador Gil — Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Prof. Dr. Antônio Pedro Tota – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Assis) Prof. Dr. Eduardo Victorio Morettin — Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Elizabeth Cancelli — Universidade de São Paulo (USP)
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Prof. Dr. Flávio Vilas-Boas Trovão – Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Francisco Carlos Palomanes Martinho — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da Silva — Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) Prof. Dr. Frederico Alexandre Hecker – Universidade Presbiteriana Mackenzie / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP – Assis) Prof. Dr. Gabriel Passeti – Universidade Federal Fluminense (UFF) Prof.ª Dr.ª Gabriela Pellegrino Soares — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Henri Pierre Arraes de Alencar Gervaiseau — Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Ivana Barreto – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Prof. Dr. José D’Assunção Barros — Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Prof. Dr. José Luis Bendicho Beired (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Assis) Prof. Dr. Julio Cesar Pimentel Filho – Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Kátia Gerab Baggio – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Prof. Dr. Leandro Karnal — Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Marcus Dezemone – Universidade Federal Fluminense (UFF) Prof.ª Dr.ª Maria Antonia Dias Martins — Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA) Prof.ª Dr.ª Maria Helena Rolim Capelato — Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Mariana Joffily — Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Prof.ª Dr.ª Mariana Martins Villaça — Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Prof.ª Dr.ª Mary Lucy Murray Del Priore — Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Prof. Dr. Maurício Cardoso — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Norberto Luiz Guarinello — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Osvaldo Luis Angel Coggiola — Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Patrícia Valim – Universidade Federal da Bahia (UFBA) Prof.ª Dr.ª Priscila Ribeiro Dorella — Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Prof. Ms. Raphael Nunes Nicoletti Sebrian — Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) Prof. Dr. Ricardo Antônio Souza Mendes – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Prof. Dr. Robert Sean Purdy — Universidade de São Paulo (USP) Prof. Dr. Rodrigo Farias — Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) Prof. Dr. Rodrigo Ricupero — Universidade de São Paulo (USP) Prof.ª Dr.ª Tânia Regina de Luca — Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) Prof. Dr. Thaddeus Gregory Blanchette — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Macaé) Prof.ª Dr.ª Vanessa dos Santos Bodstein Bivar — Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) Profa. Dra. Yone de Carvalho — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) Internacional: Prof. Dr. Alex Houen — University of Cambridge Prof.ª Dr.ª Archana Ojha — University of Delhi Prof. Dr. Diogo Ramada Curto — Universidade Nova de Lisboa Prof. Dr. Fernando Rosas — Universidade Nova de Lisboa Prof.ª Dr.ª Marie-Christine Pauwels — Université de Paris X
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Prof. Dr. Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla — Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Madrid Prof.ª Dr.ª Patrícia Funes — Universidad de Buenos Aires Prof. Dr. Pere Gallardo Torrano — Universitat Rovira i Virgili / Universitat de Lleida Prof. Dr. Philip M. Hosay —New York University Prof. Dr. Wolfgang Benz — Technische Universität Berlin
Diagramação: Beatriz Moreira da Costa Revisão: Quezia Brandão Arte da Capa: Quezia Brandão
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
APRESENTAÇÃO A Revista Poder & Cultura é uma iniciativa que nasceu dos cursos, produções historiográficas e debates realizados pelos pesquisadores do Laboratório de Estudos Históricos e Midiáticos das Américas e da Europa (LEHMAE), coordenado pelo Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira (IH/UFRJ), desde o ano de 2011. Demarcando seu campo de investigação na pluralidade de experiências históricas travadas pela relação entre Poder e Cultura, a Revista pretende ser um canal de expansão da temática e de divulgação de artigos, resenhas, entrevistas e ensaios de crítica histórica, estando aberta a abordagem de questões e conceitos acerca de todos os campos disciplinares, especialidades, períodos e temas históricos. Nosso propósito é abrir um espaço de circulação para as pesquisas contemporâneas em história, contribuindo para educação pública e socializando o espaço acadêmico, promovendo, assim, uma integração no ambiente intelectual e a cidadania através do acesso às produções. “Os fatos históricos não se organizam através de períodos e de povos, mas através de noções; não têm de pôr-se no seu tempo, mas sob seu conceito.”
(Veyne, 1989:33)
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol.2. Outubro/2014
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Sumário EDITORIAL ..................................................................................................................... 9 EXISTE UMA NOVA HISTÓRIA CULTURAL? – ANÁLISE DE UM CAMPO HISTÓRICO – JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS .......................................................... 11 O FESTIVAL DE OSÍRIS E A LEGITIMAÇÃO DA MONARQUIA FARAÔNICA NO EGITO ANTIGO DURANTE O REINO MÉDIO TARDIO (1939 – 1685 A.C.) BEATRIZ MOREIRA DA COSTA ............................................................................... 45 CONDE DE NASSAU, O ENGENHEIRO DE TRAMOYAS: O SIMBÓLICO E O IMAGINÁRIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 1640 - ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA ........................................................................................... 60 OS TRABALHADORES NAS PROPAGANDAS POLÍTICAS DO PTB E DO PARTIDO PERONISTA - MAYRA COAN LAGO ..................................................... 83 “OS INCOMPREENDIDOS”: UMA REPRESENTAÇÃO JUVENIL FRANCESA DA DÉCADA DE 1950 - CARLOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS .......................... 104 TERRORISMO INTERNACIONAL E O ATENTADO À AMIA - KARL SCHURSTER & DIEGO RODRIGUES DIAS DA LUZ ............................................ 124 DESBRAVANDO O “CORAÇÃO DAS TREVAS”:
VISÕES SOBRE O
NEOCOLONIALISMO EUROPEU, A ÁFRICA E OS AFRICANOS NA OBRA DE JOSEPH CONRAD - WAGNER PINHEIRO PEREIRA ........................................... 136
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Editorial Por uma sócio história das praticas culturais: Abrindo caminhos
Nesta edição da Revista Poder & Cultura abrimos com uma importante contribuição do historiador José D’Assunção Barros acerca da noção de História Cultural, pensando as discussões do momento atual de reflexão teórica sobre a escrita da história e o ofício do historiador. A partir dessa discussão selecionamos seis artigos que vão desde temáticas como O Festival de Osíris e a Monarquia faraônica no Egito Antigo, Conde de Nassau e os imaginário do período colonial, Propaganda Política no Varguismo e no Peronismo, Terrorismo Mundial e a Argentina, Os Incompreendidos (Dir. François Truffaut, 1959) e a juventude francesa, passando pelas discussões acerca da cultura audiovisual, até chegar na construção de imaginários coletivos e identidades sobre o continente Africano em um importante artigo do historiador Wagner Pinheiro Pereira a partir da clássica obra literária Coração das Trevas (Joseph Conrad, 1902). Seguindo a nossa proposta de construir um espaço de discussões plurais no âmbito da História, este volume traz um arcabouço complexo de recortes e enfoques enriquecendo nosso conteúdo de discussão sobre Poder e Cultura.
Conselho Editoral Poder & Cultura Outubro/2014
9 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
10 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
EXISTE UMA NOVA HISTÓRIA CULTURAL? – ANÁLISE DE UM CAMPO HISTÓRICO – JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS
RESUMO Este artigo tem por objetivo elaborar algumas considerações sobre o âmbito historiográfico que poderia ser considerado como uma nova História Cultural, iniciando com uma reflexão sobre a expansão do conceito de Cultura no século XX. Depois disso, são discutidas algumas ênfases na definição de História Cultural, tais como a sua conceituação como um campo dedicado à apreensão da Alteridade, ou também como o seu deslocamento da “História Social da Cultura” para a “História Cultural do Social”. Palavras-Chave: História Cultural; Cultura; Alteridade.
ABSTRACT This article aims to elaborate some considerations about the new the Cultural History, beginning with a reflection about the expansion of the concept of Culture in the twenty century. After this, they are discussed some emphasis in the definition of the Cultural History, as the conceptualization of this historiography modality like a field directed to the apprehensibility of the Alterity, or as well the dislocation of the “Social History of the Culture” to the “Cultural History of the Social”.
Key-Words: Cultural History; Culture; Alterity.
***
Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), nos Cursos de Mestrado e Graduação em História, onde leciona disciplinas ligadas ao campo da Teoria e Metodologia da História, História da Arte. Doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Entre suas publicações mais recentes, destacam-se os livros O Campo da História (Petrópolis: Vozes, 2004), O Projeto de Pesquisa em História (Petrópolis: Vozes, 2005), Cidade e História (Petrópolis: Vozes, 2007), A Construção Social da Cor (Petrópolis: Vozes, 2009) e Teoria da História (Petrópolis: Vozes, 2011).
11 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
1. Introdução: em torno de algumas definições Christopher Hill (1912-2003) certa vez afirmou que “toda história deveria ser história da cultura, e a melhor história o é” (FONTANA, 2004, p.332). Este dito é bastante sintomático da extraordinária expansão de interesses pela História Cultural que tem ocorrido nas últimas décadas, pois foi pronunciado por um historiador marxista que começara sua produção bibliográfica em 1947 publicando uma biografia mais tradicional intitulada Lênin e a Revolução Russa, e que a partir dos anos 60 chegaria a ensaios extremamente inovadores no âmbito da História Cultural, entre os quais As Origens Intelectuais da Revolução Inglesa (1965) e O Mundo de Ponta-Cabeça (1972). Esta modalidade historiográfica, que, apesar de autores como Jacob Burckhardt, era ainda rara em fins do século XIX, havia se convertido ao longo de um século em um dos mais promissores campos historiográficos. Discorrer sobre uma “Nova História Cultural” implica não apenas em definir a História Cultural como uma modalidade historiográfica específica, mas também discutir o que se estará entendendo por uma “nova história cultural”. A expressão remete, antes de mais nada, a uma oposição em relação ao que seria uma “velha história cultural”, ou pelo menos a uma antiga maneira de fazer a história cultural. De modo mais sistemático, é nos finais dos anos 1980 que a expressão “nova história cultural” passa a ser empregada no sentido de que teria surgido ou estaria surgindo uma espécie de novo paradigma no âmbito da História Cultural. Mas as realizações historiográficas às quais esta expressão estaria se referindo remontam na verdade aos inícios da década de 1970, segundo a avaliação de Peter Burke em seu ensaio O que é História Cultural [2004]. Com relação a suas realizações historiográficas, a década de 1980 teria apresentado, ainda segundo Burke, a fase de maior produção de inovações neste campo que poderia ser configurado como uma Nova História Cultural; enquanto que já a década de 1990 teria apresentado um pequeno declínio. Isso leva o historiador inglês a indagar se, nesta primeira década do milênio, já não estaria a caminho uma nova proposta de renovação da História Cultural a partir de alguns trabalhos mais recentes. Conservemos esta indagação como um dos pontos de reflexão a serem encaminhados. Ainda com relação à definição de “Nova História Cultural”, será importante ressaltar que frequentemente a expressão é utilizada para designar grupamentos historiográficos específicos – ou seja, escolas, grupos de historiadores, movimentos sediados em países específicos, e assim por diante. Na França, por exemplo, foi se 12 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
afirmando um campo promissor de estudos de História Cultural em torno da atuação mais sistemática de historiadores como Roger Chartier, e de seus diálogos com intelectuais como o sociólogo Pierre Bourdieu e ou o erudito francês Michel de Certeau. Não é raro que, para este caso, seja mencionada uma “Nova História Cultural Francesa”. De igual maneira, também em outros países, ou mesmo em redes trans-nacionais, têm surgido grupamentos diversos que constroem a sua identidade historiográfica em torno desta designação. É a uma Nova História Cultural (1992) que se refere Lynn Hunt na coletânea que leva este mesmo nome, procurando ali enquadrar um grupo um pouco mais amplo de historiadores. Desta maneira, este outro sentido para a expressão – a Nova História Cultural como designativo de certos movimentos historiográficos contemporâneos – também deve ser levado em conta. Vale ainda lembrar que, mesmo considerando apenas as renovações que têm ocorrido nas quatro últimas décadas, há existe uma história bastante considerável a ser aqui considerada, sem contar que podemos retroceder a períodos bem anteriores para o estudo da “História Cultural” como modalidade historiográfica específica, o que permitiria remontar a historiadores como Jacob Burckhardt (1818-1897) em fins do século XIX. Já existe, portanto, um significativo caminho percorrido que permite uma análise crítica. Se nos anos 1980 o que por muitos seria considerado como uma Nova História Cultural representava um campo novo, revivificado, no qual a novidade era opor ou acrescentar o estudo histórico da Cultura a outras modalidades já clássicas ou tradicionais – tal como a História Econômica ou a História Demográfica – hoje, já ultrapassado o milênio, há já um universo bastante significativo de produções e caminhos que foram percorridos pelos historiadores culturais, de modo que se torna possível pensar a renovação no interior do próprio campo, bem como criticar caminhos percorridos, tendências redutoras, aportes conceituais. Por outro lado, há autores que indagam se a chamada Nova História Cultural constituiria de fato um “novo paradigma”, como é o caso de Peter Burke no ensaio de 2004 no qual pergunta a partir do próprio título: “O que é História Cultural”? De igual maneira, podemos aqui nos reportar ao ensaio temático de Stuart Hall, publicado em 1980 com o título Cultural Studies: Two Paradigms (1980, reed. 1996, p.31-8). Pensar a História Cultural como campo histórico já antigo, mas que assiste a radicais inovações nas últimas décadas do século XX, ou pensar nesta expressão como o signo de um “novo paradigma”, têm sido orientações
recorrentes nos
grandes balanços 13
Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
historiográficos. Há também os delineamentos deste campo que situam a História Cultural como um setor bastante específico da historiografia, impondo métodos próprios, e, de outro lado, aqueles que atribuem à História Cultural possibilidades globalizadoras, como é o caso de Antoine Prost em seu ensaio “Social e cultural, indissociavelmente” (1999)1. No presente texto – no qual buscaremos avaliar a História Cultural como uma modalidade historiográfica entre outras, tais como a História Política ou a História Econômica – procuraremos estabelecer um balanço sobre este campo histórico a partir das últimas décadas do século XX, tomando como ponto de partida a discussão em torno do conceito de “Cultura”, que é o que dá maior sustentação a esta modalidade em especial. 2. Uma história conceitual da ‘história cultural’ Para introduzir um universo comum a todas as tendências de aqui falaremos, consideraremos que a História Cultural, em um primeiro nível de compreensão, é aquele campo do saber historiográfico atravessado pela noção de “cultura” (da mesma maneira que a História Política é o campo atravessado pela noção de “poder”, ou que a História Demográfica funda-se essencialmente sobre o conceito de “população”, e assim por diante). Cultura, contudo, é um conceito extremamente polissêmico, notando-se ainda que o século XX trouxe-lhe novas redefinições e abordagens em relação ao que se pensava no século XIX como um âmbito cultural digno de ser investigado pelos historiadores. Orientando-se em geral por uma noção muito restrita de “cultura”, geralmente relacionada às grandes obras de arte e literatura, os poucos historiadores do século XIX que atuavam mais diretamente com temáticas culturais – entre os quais Matthew Arnold e Jacob Burckhardt – costumavam passar ao largo das manifestações culturais de todos os tipos que aparecem através da cultura popular, além de também ignorarem que qualquer objeto material produzido pelo homem faz também parte da cultura – da
1
Em certa passagem de seu ensaio, Prost sugere que hoje se espera da História Cultural “uma aproximação global e pedem-lhe que esclareça o próprio sentido de nosso tempo, e o da evolução que a ele conduz. Entra em jogo, aqui, nossa identidade coletiva” (PROST, 1999, p.139). Em outras passagens, pode-se ler: “a história cultural, atualmente, não pretende ser uma história entre outras [...] na realidade aspira a substituir a história total de ontem”. Seu objetivo, de acordo com Prost, deve ser o de ser “válida para um conjunto amplo, um grupo social, uma sociedade inteira; para o conseguir, converte-se em uma história das representações coletivas” (PROST, 1999, p.139).
14 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
cultura material, mais especificamente2. Além disto, negligenciava-se o fato de que toda a vida cotidiana está inquestionavelmente mergulhada no mundo da cultura. Desconsiderava-se que, ao existir, qualquer indivíduo já está automaticamente produzindo cultura, sem que para isto seja preciso ser um artista, um intelectual, ou um artesão. A própria linguagem, e as práticas discursivas que constituem a substância da vida social, embasam esta noção mais ampla de Cultura. “Comunicar” é produzir Cultura, e de saída isto já implica na duplicidade reconhecida entre Cultura Oral e Cultura Escrita (sem falar que o ser humano também se comunica através dos gestos, do corpo, e da sua maneira de estar no mundo social, isto é, do seu ‘modo de vida’). Apenas para exemplificar com uma situação significativa, tomemos um “livro”, este objeto cultural reconhecido por todos os que até hoje se debruçaram sobre os problemas culturais. Ao escrever um livro, o seu autor está incorporando o papel de um produtor cultural. Isto todos reconhecem. O que foi acrescentado pelas mais modernas teorias da comunicação é que, ao ler este livro, um leitor comum também está produzindo cultura. A leitura, enfim, é prática criadora – tão importante quanto o gesto da escritura do livro. Pode-se dizer, ainda, que cada leitor recria o texto original de uma nova maneira – isto de acordo com os seus âmbitos de “competência textual” e com as suas especificidades (inclusive a sua capacidade de comparar o texto com outros que leu, e que podem não ter sido previstos ou sequer conhecidos pelo autor do texto original que está se prestando à leitura). Desta forma, uma prática cultural não é constituída apenas no momento da produção de um texto ou de qualquer outro objeto cultural, ela também se constitui no momento da recepção. Este exemplo, aqui o evocamos com o fito de destacar a complexidade que envolve qualquer prática cultural (e elas são de número indefinido). Desde já, para aproveitar o exemplo acima, poderemos evocar uma delimitação já moderna de História Cultural elaborada por Georges Duby (1990. p. 125-130). Para o historiador francês, este campo historiográfico estudaria dentro de um contexto social os “mecanismos de produção dos objetos culturais” (aqui entendidos como quaisquer objetos culturais, e não apenas as obras-primas oficialmente reconhecidas). O exemplo acima proposto autoriza-nos a acrescentar algo. A História Cultural enfoca não apenas os mecanismos de produção dos objetos culturais, como também os seus mecanismos de 2
Mesmo Johan Huizinga, em sua célebre palestra sobre a “As tarefas da História Cultural” proferida em 1926 em Ultrech, não vai muito além disto, embora já se refira à História Cultural como a que se volta para “figuras, motivos, temas, símbolos e sentimentos” (1929).
15 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
recepção (e já vimos que, de um modo ou de outro, a recepção é também uma forma de produção). Estabelecido isto, retomemos a comparação entre os atuais tratamentos historiográficos da Cultura e aqueles que eram tão típicos do século XIX. Ao ignorar a inevitável complexidade da noção básica que a fundamentava, a História da Cultura tal como era habitualmente praticada nos tempos antigos era uma história elitizada, tanto nos sujeitos como nos objetos estudados. A noção de “cultura” que a perpassava era uma noção demasiado restrita, que os avanços da reflexão antropológica vieram desautorizar. Não que as produções culturais que as várias épocas reconhecem como “alta cultura”, ou que a produção artística que está hoje sacramentada pela prática museológica, tenham perdido interesse para os historiadores. Ao contrário, estuda-se Arte e Literatura do ponto de vista historiográfico muito mais do que nos séculos anteriores ao século XX. Apenas que a estes interesses mais restritos acrescentou-se uma infinidade de outros. Tal parece ter sido a principal contribuição do último século para a História da Cultura. Para além disto, passou-se a avaliar a Cultura também como processo comunicativo, e não como a totalidade dos bens culturais produzidos pelo homem. Este aspecto, para o qual confluíram as contribuições advindas das teorias semióticas da cultura, também representou um passo decisivo. Conforme se vê, sob a influência da antropologia3, a noção de “cultura” foi se ampliando no século XX, a um ponto tal que eventualmente surgiram, mesmo no seio da própria antropologia, redefinições para impor limites a um conceito que já ia se tornando demasiado amplo e que ameaçava perder a operacionalidade. Talcott Parsons e Alfred Kroeber, em um artigo de 1958 para a American Sociological Review, buscaram conter relativamente esta expansão utilizando o conceito de cultura em referência aos “valores, idéias e outros sistemas significantes do ponto de vista simbólico”; mas também continuavam incluindo os comportamentos humanos relacionados a estes sistemas simbólicos e os artefatos por eles produzidos (KROEBER e PARSONS, 1958, p.583). De todo modo, mesmo que ocorrendo reajustes para conter uma expansão excessiva, no arco maior pode-se dizer que o conceito de cultura foi se ampliando extraordinariamente, e foi isto o que permitiu que uma nova história cultural fosse se constituindo, particularmente a partir dos anos 1960, quando a historiografia passa a expressar em diversos dos seus setores o que muitos chamam de “virada antropológica”. 3
Já Malinowski, em um verbete de 1931 para a Enciclopédia de Ciências Sociais, define “cultura” como abrangendo “artefatos, bens, processos técnicos, idéias, hábitos e valores”; e mesmo muito antes, em 1870, Edward Tyler já havia elaborado uma definição similar, na qual “cultura” era praticamente definida como todo o comportamento aprendido. Sobre isto, ver BURKE, 2005, p.43.
16 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Peter Burke, a respeito da expansão do conceito de “cultura”, utiliza uma interessante metáfora em seu livro O Que é História Cultural? (2004). Ele lembra que, se o conceito era a princípio utilizado para se referir à “alta cultura”, em termos de posição social do produto cultural, e ao âmbito da “arte e ciência”, no que se refere ao universo de práticas, depois começou a ser estendido para baixo, de modo a abarcar a “baixa cultura” ou “cultura popular” – e isso permitiu que a história cultural passasse a abranger também os correlatos populares das ciência e arte eruditas, tal como era o caso da medicina popular e da música folclórica. Por fim, teria sido também estendido para os lados, pois das artes e ciências passou a abarcar também os objetos da cultura material, as imagens, e também as práticas – como conversar ou jogar (BURKE, 2005, p.42-43). O retoque final, que se torna mais visível a partir dos anos 1990, foi a intensificação do uso da expressão “cultura” no plural. É ainda importante, para além da própria expansão do conceito de “cultura” e do conseqüente enriquecimento temático trazido por um novo paradigma de História Cultural, situarmos as críticas que logo iriam se tornar enfáticas com relação à chamada “História Cultural Clássica” que havia sido praticada por Burckhardt (1960), e mesmo por Huizinga algumas décadas depois (1929). Se quisermos entender uma mudança de paradigma que habilite falar de uma Nova História Cultural que contrasta com o antigo modelo clássico de História Cultural, não apenas a ampliação do conceito de cultura, mas também as novas perspectivas sobre a Cultura em relação à sociedade e outros aspectos devem ser considerados. Um balanço particularmente inteligente das críticas que abalaram os pressupostos clássicos foi elaborado em 1997 por Peter Burke em seu texto “Unidade e Variedade na História Cultural” (2006, p.233-267). A primeira destas críticas ao modelo clássico de História da Cultura refere-se à “História Cultural descarnada” – isto é, destacada da Economia, Sociedade e Política – que tal modelo de História Cultural implicava. Esse aspecto da antiga História Cultural foi sendo cada vez mais confrontado por obras de historiadores preocupados em unir o estudo da Cultura ao da Economia e Sociedade. Partindo de orientações diversas, podemos citar a geração que proporcionou, a partir dos anos 1950, a emergência da obra de Frederick Antal sobre a “Pintura Florentina e sua base social” (1947), a obra de Francis Klingender sobre a “Arte na Revolução Industrial” (1947), e o ensaio mais amplo Arnold Hauser sobre a “História Social da Arte” (1951). Na geração seguinte, surgiria a imprescindível contribuição da Escola Inglesa do Marxismo, com nomes 17 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
como Raymond Williams e Edward Thompson. Todas estas produções, trazendo enfaticamente a Arte para a Sociedade que a produz, confrontam de maneira eficaz o aspecto da História Cultural Clássica que parecia redesenhar a Cultura de uma sociedade ou época no vazio, desligada de uma base social e econômica. A segunda crítica refere-se à ‘ilusão de unidade’ trazida pela idéia de ‘consenso cultural’ que está implícita na maior parte das obras da História Cultural Clássica, e mesmo em ensaios posteriores até meados dos anos 1950. Obras como a Civilização do Renascimento na Itália, de Burckhardt (1860), pressupunham de fato a idéia de que existiria uma “Cultura do Renascimento” extensiva a todas as classes e ambientes sociais do início da modernidade, quando na verdade o movimento do chamado Renascimento seria apenas relacionado a uma certa cultura de elite. De igual maneira, seria um “espírito do tempo” o que estaria pressuposto no célebre ensaio de Erwin Panofsky sobre A Arquitetura Gótica e a Escolástica (1951). A crítica mais bem encaminhada sobre os autores que se deixaram enredar pelo postulado da unidade cultural, seja na História Cultural Clássica, seja em obras posteriores, pode ser encontrada no artigo escrito em 1969 por Gombrich, com o título “Em Busca da História Cultural” (republicado em 1979). A terceira crítica refere-se ao fator “Tradição” e à ‘transmissão de uma cultura através do tempo’. Não raro, aparecem nos ensaios de História Cultural Clássica, e mesmo em obras posteriores, a noção de que um legado cultural pode ser transmitido através de uma tradição – envolvendo objetos, práticas e representações – atingindo de maneira praticamente inteiriça as gerações seguintes ou mesmo outros contextos sócioculturais. O conceito de “recepção” surge para problematizar a idéia do legado integralmente transmitido, como se fosse um dado. Ao contrário disto, o que ocorre quase sempre seria uma reapropriação cultural, uma situação na qual os elementos da cultura anterior são transformados em um novo contexto, ou ao menos se beneficiam por novos usos, como tão bem demonstrou Michel de Certeau em seu livro A Invenção do Cotidiano (1980), em tempos recentes, e como já havia sido demonstrado por Abi Warburg e sua escola de modo ainda pioneiro, na década de 1920 (WARBURG, 1932). Retomemos a questão da expansão da conceituação de “Cultura”. As noções que se acoplam mais habitualmente à de “cultura” para constituir um universo de abrangência da História Cultural são as de “linguagem” (ou comunicação), “representações”, e de “práticas” (práticas culturais, realizadas por seres humanos em 18 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
relação uns com os outros e na sua relação com o mundo, o que em última instância inclui tanto as ‘práticas discursivas’ como as ‘práticas não-discursivas’). Para além disto, a tendência nas ciências humanas de hoje é muito mais a de falar em uma ‘pluralidade de culturas’ do que em uma única Cultura tomada de forma generalizada. Em nosso caso, como estamos empregando a História Cultural como um dos enfoques possíveis para o historiador que se depara com uma realidade social a ser decifrada, utilizaremos em algumas ocasiões a expressão empregada no singular como ordenadora desta dimensão complexa da vida humana. Trata-se no entanto de uma dimensão múltipla, plural, complexa, e que pode gerar diversas aproximações diferenciadas. Face à noção complexa de cultura que hoje predomina nos meios da historiografia profissional, os objetos da História Cultural são inúmeros. A começar pelos objetos que já faziam parte dos antigos estudos historiográficos da Cultura, continuaremos mencionando o âmbito das Artes, da Literatura e da Ciência – campo já de si multi-diversificado, no qual podem ser observados desde as imagens que o homem produz de si mesmo, da sociedade em que vive e do mundo que o cerca, até as condições sociais de produção e circulação dos objetos de arte e literatura. Fora estes objetos culturais já de há muito reconhecidos, e que de resto sintonizam com a “cultura letrada”, incluiremos todos os objetos da ‘cultura material’ e os materiais (concretos ou não) oriundos da “cultura popular” produzida ao nível da vida cotidiana através de atores de diferentes especificidades sociais. De igual maneira, uma nova História Cultural interessar-se-á pelos sujeitos produtores e receptores de cultura – o que abarca tanto a função social dos ‘intelectuais’ de todos os tipos (no sentido amplo, conforme veremos adiante), até o público receptor, o leitor comum, ou as massas capturadas modernamente pela chamada “indústria cultural” (esta que, aliás, também pode ser relacionada como uma agência produtora e difusora de cultura). Agências de produção e difusão cultural também se encontram no âmbito institucional: os Sistemas Educativos, a Imprensa, os meios de comunicação, as organizações socioculturais e religiosas. Estas instâncias – produção, difusão e consumo – e portanto os papéis de produtor, distribuidor e consumidor, guardam naturalmente interações de todos os tipos, e é oportuno lembrar as reflexões de Michel de Certeau em seu livro A Invenção do Cotidiano (1980), no qual descreve o consumo como uma forma de produção. Assim, a reinterpretação dos discursos e propagandas pelas pessoas comuns, bem como as suas formas de escolhas e reapropriações em relação ao 19 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
repertório de produtos que é oferecido pela indústria e comércio, inscrevem-se em operações criadoras que não fazem dos indivíduos comuns nem consumidores passivos nem espectadores alienados de propagandas. Ao se reapropriarem dos produtos impostos e reempreenderem reutilizações e deslocamentos diversos, bem como reinscrições destes mesmos produtos em novos contextos, o homem comum dá ensejo, através de operações diversas, ao que Certeau denominou “reinvenção do cotidiano”. As “táticas” inventadas pelo indivíduo comum confrontam-se, desta maneira, com as “estratégias” veiculadas pela indústria cultural e pelos grandes sistemas de manipulação e dominação do mercado consumidor. Ao rediscutir a invenção criativa de táticas por parte das pessoas comuns, por oposição à idéia de que estas sofrem passivamente a manipulação imposta pelas estratégias produzidas ao nível dos grandes sistemas culturais, Certeau ao mesmo tempo se reapropria e empreende a critica da noção de habitus de Pierre Bourdieu, sociólogo com o qual estabelece um freqüente diálogo teórico (BURKE, 2005, p.193). Para além dos sujeitos e agências que produzem a cultura, a História Cultural empenha-se em estudar os meios através dos quais esta se produz, se transmite e é finalmente reapropriada. Falaremos aqui, portanto, de práticas e os processos. Por fim, a ‘matéria-prima’ cultural propriamente dita (os padrões que estão por trás dos objetos culturais produzidos): as “visões de mundo”, os sistemas de valores, os sistemas normativos que constrangem os indivíduos, os ‘modos de vida’ relacionados aos vários grupos sociais, as concepções relativas a estes vários grupos sociais, as idéias disseminadas através de correntes e movimentos de diversos tipos. Com um investimento mais próximo à História das Mentalidades, podem ser estudados ainda os modos de pensar e de sentir tomados coletivamente. Estes inúmeros objetos da História Cultural – distribuídos ou partilhados entre os cinco eixos fundamentais acima citados (objetos culturais, sujeitos, práticas, processos e padrões) – têm constituído um foco especial de interesses da parte de vários historiadores do século XX. Naturalmente que, neste amplo conjunto de possibilidades, vão surgindo as temáticas que pouco tinham sido percorridas até então e que, sob um novo olhar historiográfico, passam a despertar o interesses dos historiadores culturais. Edward Thompson, historiador cultural inglês que se vincula ao Materialismo Histórico, fala-nos de algumas destas novas possibilidades na conferência-artigo intitulada “Folclore, Antropologia e História Social”, proferida em 1977 e publicada 20 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
neste mesmo ano na Indian Historical Review (THOMPSON, 2001, p.239). São não apenas novos objetos, mas também antigos temas sob o qual se lançam novos olhares: “o calendário dos rituais e festividades no campo e na cidade, os diferentes ritmos de trabalho e lazer, a cambiante posição dos adolescentes na comunidade, o mercado ou o bazar (mas não em suas funções econômicas, e sim culturais”. Estes são apenas alguns exemplos. Nos parágrafos que se seguem, procuraremos discutir algumas das várias contribuições basilares que atuaram conjuntamente para a constituição deste campo no decurso do século.
3. A História Cultural e a apreensão da Alteridade Para além da definição mais ampla de que a História Cultural refere-se à exploração da cultura em sentido mais estendido, há historiadores que buscam uma maior especificidade nesta delimitação. Assim, para um setor importante da historiografia, o que define a História Cultural é a busca de apreensão da “alteridade”. Esta definição é explicitada por Robert Darnton em seu conjunto de ensaios intitulado “O Grande Massacre dos Gatos” (1984). Ao lado de um campo delineado pela atenção à alteridade, parecem vir também posturas metodológicas específicas. Podemos entendêlas a partir de uma das passagens do ensaio de Robert Darnton que dá nome à já mencionada coletânea. Associando a Nova História Cultural a um diálogo direto com a Antropologia, e, no seu caso, priorizando a abordagem interpretativa da cultura à maneira de Clifford Geertz, Darnton revela uma certa maneira de trabalhar: “Os antropólogos descobriram que as melhores vias de acesso, numa tentativa para penetrar uma cultura estranha, podem ser aquelas em que ela parece mais opaca. Quando se percebe que não se está entendendo alguma coisa – uma piada, um provérbio, uma cerimônia – particularmente significativa para os nativos, existe a possibilidade de se descobrir onde captar um sistema estranho de significação, a fim de decifrá-lo” (DARNTON, 1984, p.106)
A Definição de História Cultural como a modalidade historiográfica que se ocupa da alteridade estará também na base dos trabalhos de inúmeros historiadores culturais, para os quais certas situações oferecem-se como oportunidades ímpares para os estudos de História Cultural. Entre estas, o confronto entre duas sociedades, relacionadas a duas culturas distintas pode oferecer uma possibilidade exemplar de iluminar uma cultura através da outra. 21 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Júri Lotman, historiador russo ligado à chamada “Escola Tartu”, que se desenvolveu na Rússia sob a influência das obras e proposições de Mikhail Bakhtin, traz um exemplo particularmente interessante sobre a questão. Em um ensaio de 1984 intitulado “Poética do Comportamento Cotidiano”, sustenta a proposição de que uma oportunidade ímpar surge para o historiador quando há estranhamento entre duas culturas, e dá o exemplo do momento de ocidentalização da Rússia no século XVIII, quando a importação de hábitos e códigos de etiqueta europeus para a aristocracia russa fez com que esta, devido ao seu estranhamento diante do novo mundo cultural, necessitasse de manuais de conduta. Desta forma, os estranhamentos entre duas culturas, inclusive nos seus momentos mais dramáticos, constituem ocasiões privilegiadas para que os historiadores apreendam algo acerca das duas culturas envolvidas no processo. É também esta a proposta de Carlo Ginzburg: a de atuar historiograficamente nos momentos em que culturas distintas são confrontadas de alguma maneira, o que irá ser particularmente bem desenvolvido nas suas pesquisas sobre a Inquisição no início do período moderno. Ginzburg esclarece a singularidade destas pesquisas em um importante artigo intitulado “O Historiador como Antropólogo” (1989), buscando discorrer sobre alguns dos problemas a serem enfrentados pelo historiador que trabalha com mediações culturais. As fontes inquisitoriais – que nos trabalhos de Ginzburg adquirem um novo sentido ao se ultrapassar o antigo enfoque nas “perseguições” em favor do enfoque no discurso e na cultura – apresentam precisamente a especificidade de serem mediadas pelos “inquisidores”. Ou seja, para se chegar ao mundo cultural dos acusados, é preciso atravessar esse filtro que é ponto de vista do inquisidor do século XVI, ele mesmo mergulhado na sua cultura específica. Mostra-se aqui necessário empreender o esforço de compreender um mundo através de outro, ou uma cultura através de outra, de modo que temos aqui três pólos dialógicos a serem considerados: o historiador, o “inquisidor-antropólogo”, o réu acusado de práticas de feitiçaria. O limite da fonte – o desafio a ser enfrentado – é o fato de que o historiador deverá lidar com a “contaminação de estereótipos”, sendo este um dos problemas mais desafiadores tanto da História Cultural como da Antropologia como um todo. Mas uma riqueza da mesma documentação é a forma de registro intensivo que é trazida pelas fontes inquisitoriais – uma documentação atenta aos detalhes, às margens do discurso, e fundada sobre um olhar microscópico – isto, para além do forte dialogismo presente, 22 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
seja de forma explícita ou implícita. Quanto à estratégia metodológica que aproxima inquisidores do século XVI e antropólogos modernos, a que dá o título ao artigo, é exatamente a de traduzir uma cultura diferente por um código mais claro ou familiar (GINZBURG, 1991, p.212). O historiador pode-se beneficiar particularmente desta interação de culturas, por vezes explorando com igual proveito também a mútua iluminação proporcionada pelos momentos de não-comunicação entre as duas culturas. 4. A Uma História Cultural do Social Roger Chartier – historiador francês que se alinha teoricamente a nomes como o de Pierre Bourdieu e Michel de Certeau – tem sido certamente um dos autores que mais têm contribuído tanto para definir a História Cultural como modalidade historiográfica específica, como também para indicar e discutir as mudanças tendenciais que surgiram na historiografia cultural mais recente. Por outro lado, ele mesmo representa uma certa posição ou especificidade no âmbito da História Cultural e do conjunto de historiadores que habitualmente são apresentados como “historiadores culturais”. Seria oportuno discutir algumas de suas propostas, pois o que ele coloca em jogo é precisamente uma nova maneira de tratar os temas sociais e questões culturais pela história. É possível indicar seis principais contribuições de Roger Chartier para esta SUPERAÇÃO DO CONCEITO ESTREITO E ELITIZADO ABANDONO TOTAL DA DICOTOMIA ENTRE SOCIEDADES COM CULTURA E SOCIEDADES SEM CULTURA (OU COM CULTURAS INFERIORES)
Crítica à idéia de
Críticas da Nova História Cultural Ao modelo clássico de História da Cultura
TRANSMISSÃO DIRETA DE TRADIÇÕES E LEGADOS CULTURAIS através do tempo. Considera-se, nestes Processos, as MEDIAÇÕES e ADAPTAÇÕES INEVITÁVEIS
Crítica da total AUTONOMIA CULTURAL
(rejeição da “História Cultural desencarnada”, desligada da economia, política e sociedade.
ABANDONO DA ‘ILUSÃO DE UNIDADE’ OU DE CONSENSO CULTURAL (Uma Cultura única e homogênea caracterizando um período)
23 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
reflexão historiográfica (Quadro 1). A primeira delas refere-se àquilo que de fato foi permitindo a própria emergência de um novo campo de saberes e procedimentos no interior da mais tradicional história da cultura. Referimo-nos à (1) ampliação do conceito de cultura. Com Chartier, mais especificamente, esta ampliação adquire um direcionamento mais específico, que já discutiremos.
Em segundo lugar, destaca-se (2) a percepção de que estaria em geral ocorrendo (ou que seria útil ocorrer) uma passagem da ‘História Social da Cultura’ à ‘História Cultural do Social’, o que ficará claro a partir dos exemplos discutidos adiante. (3) Em terceiro lugar, ressalta-se a possibilidade cada vez mais disponível de se ir para muito além do trabalho com os fenômenos sócio-culturais e agentes historiográficos específicos, de modo a agora atingir também o estudo das imagens que se constroem em torno destes fenômenos, ou ainda das imagens que são construídas pelos próprios agentes históricos envolvidos. Em uma palavra, tem se aqui a possibilidade de se trabalhar não com os fenômenos, sujeitos e objetos culturais propriamente ditos, mas com as “práticas” e “representações” que em torno deles se estabelecem. Em quarto lugar (4), deve-se dar destaque à crítica cada vez difundida à compartimentação historiográfica das formas culturais. Com relação a este aspecto, a tendência é a superação da idéia de que há formas culturais específicas relacionadas a determinados grupos sociais, para se passar a trabalhar com a idéia de ‘práticas culturais compartilháveis’ entre vários grupos. O conceito que auxilia a compreender esta situação, diga-se de passagem, é o da “apropriação”, e implica na idéia de que os indivíduos e grupos sociais não se atém a objetos e práticas que para eles são socialmente pré-determinados, mas sim que todos podem se “apropriar, de novas maneiras, dos vários objetos e práticas culturais disponíveis. Uma última contribuição de Roger Chartier para a compreensão do novo momento que se apresenta à História Cultural refere-se à (5) percepção da complexidade dos processos culturais de qualquer tipo. Não existe, é disto que se trata, uma relação linear e unidirecional entre os elementos envolvidos em um processo cultural, qualquer que seja ele. Se a produção de um certo objeto ou prática cultural pressupõe um sujeito de produção e uma recepção, por exemplo, tanto a recepção deve ser vista como criadora e interferente no processo, como o próprio produtor acha-se interferido pelo receptor, antecipando suas expectativas e transformando-se a partir 24 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
destas. Ligando-se a isto, devemos ainda falar em uma (6) completude os vários objetos culturais. Nenhum objeto cultural é tão simples que não tenha várias dimensões envolvidas na sua própria constituição, conforme veremos mais adiante. Vamos examinar, em maior detalhe, a primeira contribuição trazida por Chartier para o conjunto de reflexões já existentes sobre a História Cultural, e, na verdade, com vistas à delimitação de uma “nova História Cultural”. Esta se refere à ‘ampliação do conceito de cultura’ (1). Naturalmente que a ampliação do conceito de cultura foi um fenômeno que se deu no decurso de todo o século XX, e mesmo antes através de alguns desenvolvimentos da antropologia. Esta ampliação, que será mais adiante discutida, adquire com Roger Chartier um perfil específico uma maneira de compreendê-la, por assim dizer. O modelo que o historiador francês evoca é o sociólogo Norbert Elias – que desde os anos 30 do século XX já elaborando uma obra que relacionava Sociedade, Política e Cultura. A referência de Chartier é ao seu uso complexo (e mais completo) da noção de “cultura”. Em poucos textos esse posicionamento de Chartier, com relação à uma reapropriação especificamente historiográfica das proposições de Elias, é tão bem explicitado como no ensaio “entre narrativa e conhecimento”, que foi incluído no livro À Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes (2002, p.93). As idéias ali apresentadas também já faziam parte de um ensaio mais específico sobre Norbert Elias que fora incluído em obra anterior, o já clássico livro intitulado História Cultural – entre práticas e representações (1982). De acordo com as proposições desenvolvidas por Chartier sob a inspiração de Norbert Elias, “Cultura” pode designar de um lado as obras e gestos produzidos em uma sociedade, da qual podemos nos aproximar de um ponto de vista estético (e isto inclui todas as formas de expressões culturais, inclusive, o que por vezes é denominado “cultura popular”). Por outro lado, “cultura” é noção que também se relaciona às práticas que estão integradas às relações cotidianas, aos modos como uma sociedade se representa e, desta maneira, termina por produzir uma relação específica com o mundo presente, com o campo de experiências do passado, e.com as expectativas em relação ao futuro. Podemos encontrar nesta formulação a origem dos conceitos de “práticas” e “representações”, fundamentais para o âmbito teórico que o historiador francês pretende consolidar.
25 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Visto a partir desta combinação, o conceito de “Cultura” amplia-se, ultrapassa delineamentos mais redutores que consideram a “cultura” apenas em termos de expressões culturais como as artes ou a literatura, ou, por vezes de maneira mais redutora ainda, em termos de um tipo de arte e literatura que exclui o que muitos denominam “cultura popular”. A própria idéia de uma “cultura popular” seccionada em relação a um setor erudito ou oficial da cultura, aliás, será também a seu tempo criticada por Roger Chartier em favor de uma tendência que já se anunciava com a circularidade de Ginzburg, com a reciprocidade de Thompson, ou com a noção de “práticas sociais compartilhadas” propostas pelo próprio Roger Chartier como base conceitual e metodológica a ser considerada. A idéia de se passar da ‘história social da cultura’ à ‘história cultural do social’ (2) está associada principalmente à possibilidade da dar a perceber que há construções culturais envolvidas mesmo naquilo que pode ser inadvertidamente tomado pelo pesquisador como uma estrutura objetiva. É patente aqui a influência de Michel Foucault, um autor com quem Chartier estabelece um freqüente diálogo. Assim como os trabalhos pioneiros de Philippe Áries vieram a mostrar que o sentimento em relação à Infância, tal como hoje o entendemos, é uma invenção da modernidade, também a idéia de que há uma construção cultural em tudo o que é humano pode, no limite, levar a percepções inovadoras, como a de que não apenas os gêneros masculino e feminino são construções culturais, mas também a própria sexualidade relacionada a cada um dos dois gêneros, conforme asseveram os estudos de Judith Butler sobre os limites materiais e discursivos do sexo (2002). Em perspectivas análogas, multiplicam-se estudos historiográficos sobre a temática dos gêneros como construções sujeitas às flutuações sócio-culturais. Apenas para dar um exemplo, poder-se-ia citar o ensaio The Inner Quarters de Patrícia Ebrey (1993) sobre as variações nos modelos de masculinidade e feminilidade na Dinastia Tang. Trabalhar com a combinação entre a perspectiva de uma “história cultural do Social” e o uso de um ‘conceito ampliado de cultura’, na direção que transcende o objeto cultural em si mesmo com vistas a alcançar as “práticas” e “representações” que o envolvem (3), tem permitido que Roger Chartier, assim como outros historiadores que atuem dentro desta mesma perspectiva, explorem novos universos temáticos. Torna-se possível mesmo reexaminar temas clássicos, como o da Revolução Francesa, em uma
26 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
nova perspectiva, e foi esta a idéia do ensaio de Roger Chartier intitulado Origens Culturais da Revolução Francesa (1990), entre outros que poderiam ser citados. Outra idéia fundamental para a consolidação de uma Nova História Cultural, conforme a perspectiva de Chartier, refere-se a dois aspectos mutuamente relacionáveis: a ‘complexidade dos processos culturais’ (4) e a ‘completude dos objetos culturais’. Em ambos os aspectos o conceito de “apropriação” faz-se sentir mais uma vez. Assim, nenhum processo cultural, por mais simples que aparente ser, é linear e unidirecional. Um dos exemplos clássicos, e que se tornou uma das temáticas de estudo preferidas pelo historiador francês, é a da Recepção. O âmbito da Recepção seria sempre fundamental para se compreender uma obra, prática ou produto cultural – considerando que devem ser “decifrados os esquemas mentais e afetivos que constituem a cultura própria (no sentido antropológico) das comunidades que os recebem” através da sua peregrinação através do mundo social (CHARTIER, 2002, p.93). A questão da recepção, bem como da antecipação das expectativas e da competência de leitores e outros destinatários de objetos e práticas culturais, constitui uma das contribuições mais importantes de Chartier para o estudo cultural do social. A alteração no objeto ou na prática, diz-nos Chartier, já modifica imediatamente a sua “área social de recepção” (CHARTIER, 2002, p.76). Torna-se oportuno aqui o próprio exemplo oferecido por Roger Chartier a partir de um de seus mais célebres estudos, que nos dá conta das transformações verificadas na Bibliothèque Bleue, livros de pequeno formato, muito baratos e que eram vendidos por apregoadores em toda a França do século XVII, de porta em porta. A clientela mais habitual destes produtos ia desde os camponeses até os comerciantes e burgueses da província, o que desde já toca na questão das “práticas culturais compartilhadas”, e não restritivas a um único extrato social. Para a questão da Recepção, sobre a qual no momento estamos discorrendo, um dos aspectos que Roger Chartier pôde investigar na Bibliotèque Bleue refere-se às transformações impostas pelos editores no seu formato e também a modificação dos padrões tipográficos, que terminam por inscrever o texto em uma matriz cultural que já não era mais aquela que fora originalmente prevista. Este exemplo é primoroso, pois permite avançar na reflexão de que uma alteração no suporte, na materialidade, na organização visual do texto, já reconfigura de imediato a expectativa leitora, a competência de leitura, o interesse no texto – em uma palavra: a sua área social de 27 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
recepção. É o próprio Chartier quem nos dá ainda o exemplo do teatro shakespeariano e de sua difusão na América do século XIX, a partir dos estudos de Lawrence Lavine, que pôde perceber como as transformações na forma de apresentação das peças originais, com interpolações de gêneros vários, eram produzidas precisamente para criar um público mais amplo (LAVINE, 1988, p.11-81). É possível avançar ainda mais na percepção da complexidade dos processos culturais. Estes, muito habitualmente, são campos de tensões, frequentemente espaços de enfrentamentos, e não raro abrigam verdadeiras “lutas de representações”, um outro conceito que aparece muito na produção historiográfica de Chartier. Assim, além de dar a perceber que são instituidoras de novas “áreas sociais de recepção” as organizações discursivas que se expressam através dos dispositivos e práticas editoriais (para o caso dos livros), Roger Chartier também faz notar que pode ocorrer contradição entre estas organizações discursivas e a mensagem do texto. As “lutas de representações” também se dão frequentemente através de distintas apropriações que os grupos sociais diversificados fazem de um mesmo objeto, ou então através dos mecanismos culturais de inclusão ou de exclusão com os quais se visa incluir ou pôr de parte um determinado grupo social através da prática social que a este se oferece, ou que inversamente lhe é vedada. O conceito de ‘lutas de representações’ estendeu-se ainda para a possibilidade de se falar em “guerras de representações”, tal como ocorre no ensaio de Daryle Williams sobre as Guerras Culturais no Brasil do Primeiro Regime Vargas (2001). A necessidade de considerar o objeto cultural na sua completude (5) leva a identificar um tipo de reducionismo que deve ser combatido pelo historiador cultural, e que é aquele que abstrai do produto cultural – um texto, por exemplo – a sua dimensão material ou envolvente. Um objeto cultural, como já foi ressaltado, possui uma completude, uma complexidade própria, uma confluência de aspectos que muitas vezes não podem ser separados uns dos outros sem que algo se altere nos demais. Tem-se por referência aqui, para este tipo de reducionismo, as abordagens clássicas que pensam a obra como um texto abstrato, desconsiderando as formas tipográficas, as estratégias editoriais que se materializam no livro, e o suporte, enfim. Como assinala Roger Chartier, “não há texto fora do suporte que o dá a ler” (CHARTIER, 2002, p.71). É preciso então – para o exemplo do objeto-livro – considerar de um lado as estratégias de escritura, de outro lado as estratégias editoriais – e, neste último âmbito, aquelas que resultam de uma decisão do autor ou dos encaminhamentos da oficina. O Texto, assim, 28 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
surge não mais como obra única e unívoca de um só autor, mas como produto de uma coletividade, de uma prática, de um circuito que envolve profissionais diversos, e que se dirige a um público que também está implicado no momento da produção, como expectativa antecipada. Os novos campos de estudos percorridos mais habitualmente por Chartier – o Livro, a difusão das práticas culturais, os sistemas educativos, a Língua – já o situam como um dos mais importantes historiadores culturais dos últimos tempos. Mas a principal contribuição de Chartier em seus últimos textos, do ponto de vista da teoria e da metodologia da História, refere-se à crítica aos reducionismos. Um exemplo de reducionismo contra a qual têm se guardado alguns dos mais influentes historiadores culturais é a tendência mais fácil que opta por compartimentar o “cultural” em grupos sociais definidos a priori (6). Este aspecto remete-nos ao último ponto que gostaríamos de discutir com relação às propostas de Chartier, o da percepção das “práticas sociais compartilhadas”. Roger Chartier, em seu artigo “O Mundo como Representação”, associa o reducionismo que cinde a cultura em grupos sociais específicos à já mencionada abordagem que podia ser classificada como uma “história social da cultura”, e é aqui que propõe precisamente o deslocamento para uma “história cultural do social” (CHARTIER, 2002, p.67). O exemplo mais óbvio é aquele que encontraremos em alguns historiadores da cultura que costumavam fazer acompanhar uma separação entre elite e classes dominadas por uma dicotomia entre “cultura letrada” e “cultura popular”. Ou, mais além, autores que acompanhavam a grade de hierarquias sócio-profissionais e procuravam enxergar para cada uma delas um substrato cultural específico. O cultural, visto desta forma, aparece acomodado a um tipo específico de redução social. Sem contar que, ao enxergar o mundo sob a ótica exclusiva das partições sócio-culturais, perde-se a perspectiva de outras partições igualmente úteis: o gênero, a pertença a uma geração, a adesão religiosa, e assim por diante. Tudo se inverte quando, ao contrário, procede-se a uma ordenação do Social através da Cultura, e não somente a tradicional ordenação da Cultura através do Social.
5. A História Cultural e o Materialismo Histórico Nem todos os historiadores da historiografia admitem a possibilidade de se falar em uma tradição de história cultural marxista, e a estranheza em relação a esta possibilidade também ocorre da parte de alguns setores do Materialismo Histórico 29 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
(BURKE, 2006, p.243). A estranheza decorre, de modo geral, de um certo apego à utilização mais estreita de uma das muitas metáforas utilizadas por Marx e Engels em suas obras – a metáfora da base e da superestrutura. Não é por acaso que a maior parte dos historiadores marxistas que trazem a Cultura para o centro de suas preocupações costumam proceder a uma revisão desta metáfora, ou mesmo a sua rejeição, tal como Edward Thompson em diversos de seus ensaios. Entre os ensaios de Thompson que abordam a necessidade de rejeitar a metáfora, e que ao mesmo tempo já desenvolvem pressupostos para o que poderia ser categorizado como uma “alternativa marxista para a História Cultural”, destaque-se o célebre ensaio “Folclore, Antropologia e História Social”, publicado em 1977 na Indian Historical Review. Para além de Thompson e de outros historiadores ligados à Escola Inglesa do Marxismo, também encontraremos na antropologia francesa marxista nomes como o de Maurice Godelier, que se ocupa particularmente de rejeitar a metáfora “base/superestrutura” em seu ensaio O Ideal e o Material (1984). Contribuições como esta são extremamente relevantes, em função do surgimento de uma modalidade da história cultural que Peter Burke denomina “história antropológica” em seu ensaio Variedades da História Cultural (BURKE, 2006, p.243)4. De todo modo, em que pesem as estranhezas que possam surgir de lado a lado, não há como negar nos dias de hoje – após décadas de extraordinário sucesso de autores como Thompson, Christopher Hill e Eric Hobsbawm dentro e fora do âmbito do pensamento marxista – que particularmente no seio do Materialismo Histórico a preocupação com a História Social da Cultura tem tido muitos desdobramentos. A Escola Inglesa do Marxismo – com os já mencionados Edward Thompson, Eric Hobsbawm e Christopher Hill – especializou-se por exemplo em uma tríplice articulação entre a História Cultural, a História Social e a História Política. Seus trabalhos remontam à década de 1960 e ao período subsequente. A renovação dos estudos culturais trazida pela Escola Inglesa tem sido fundamental para repensar o Materialismo Histórico – particularmente para flexibilizar o já desgastado esquema de uma sociedade que seria vista a partir de uma cisão entre infra-estrutura e superestrutura. Com os marxistas da Escola Inglesa, o mundo da Cultura passa a ser examinado como parte integrante do “modo de produção”, e não como um mero reflexo 4
Entre as contribuições e inspirações da Antropologia para os historiadores culturais, em termos de abordagens, está a possibilidade de considerar “o passado como um país estrangeiro e, como fazem os antropólogos”. Deste modo, “A história cultural também é uma tradução cultural da linguagem do passado para a do presente, dos conceitos da época estudada para os dos historiadores e seus leitores” (BURKE, 2006, p.245).
30 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
da infra-estrutura econômica de uma sociedade. Existiria, de acordo com esta perspectiva, uma interação e uma retro-alimentação contínua entre a Cultura e as estruturas econômico-sociais de uma Sociedade, e a partir deste pressuposto desaparecem aqueles esquemas simplificados que preconizavam um determinismo linear e que, rigorosamente falando, também já haviam sido criticados por Antonio Gramsci, outro historiador marxista especialmente preocupado com o campo cultural. Será oportuno citar uma remarcável passagem de Thompson: “Uma divisão teórica arbitrária como esta, de uma base econômica e uma superestrutura cultural, pode ser feita na cabeça e bem pode assentar-se no papel durante alguns momentos. Mas não passa de uma idéia na cabeça. Quando procedemos ao exame de uma sociedade real, seja qual for, rapidamente descobrimos (ou pelo menos deveríamos descobrir) a inutilidade de se esboçar a respeito de uma divisão assim” (THOMPSON, 2001. p.254-255)
A dimensão cultural que Edward Thompson acrescentou a conceitos fundamentais do Materialismo Histórico (ou que, como ele gostava de dizer, já estava implícita no verdadeiro Marx negligenciado por marxistas posteriores) foi tão fundamental para uma historiografia marxista que necessitava estender sua reflexão para novos domínios como, digamos, a contribuição teórico-prática de Braudel para a historiografia francesa associada aos Annales. Basta ler o curto prefácio de Thompson para A Formação da Classe Operária Inglesa (1960) para perceber a qualidade de sua proposta simultaneamente teórica e empírica. A leitura da célebre obra Formação da Classe Operária Inglesa (1963) oferece uma verdadeira aula de História Cultural trabalhada na conexão com uma História Política de novo tipo. Mas o texto angular, que sintetiza as idéias fundamentais de Thompson a respeito da Cultura ao mesmo tempo em que mostra um lastro de diversificadas pesquisas de História Cultural realizadas pelo historiador britânico entre 1960 e 1977, aparece sob o título de “Folclore, Antropologia e História Social”. Para além de advogar a necessidade de um diálogo com a antropologia, Thompson já revela agora uma consciência muito clara de sua posição dentro de uma História da Cultura. Ao velho dito de que “sem produção não há história”, acrescenta que “sem cultura não há produção”. Além disto, o historiador inglês chama atenção para novas questões que logo seriam exploradas pelos historiadores do Imaginário e das representações, como a questão do ‘teatro do poder’: 31 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
“Os donos do poder representam seu teatro de majestade, superstição, poder, riqueza e justiça sublime. Os pobres encenam seu contrateatro, ocupando o cenário das ruas dos mercados e empregando o simbolismo do protesto e do ridículo” (THOMPSON, 2001, p.239240)
Aspectos relacionados à violência simbólica – seja a violência simbólica do Estado ou a violência simbólica do protesto popular – são articulados à noção utilizada por Thompson de “teatro do controle”. Em relação ao primeiro aspecto, o do “teatro de controle” exercido através das execuções públicas na Inglaterra do século XVIII, Thompson vai ao encontro de reflexões análogas que coincidentemente estavam sendo desenvolvidas por Foucault em Vigiar e Punir (1975)5. Destaca-se aqui a importância que se dava na época tanto à cerimônia de execução diante das multidões, com direito à teatral procissão dos condenados, até à conseqüente publicidade dos exemplos através de folhetos com as últimas palavras da vítima. São questões bem atuais no campo de uma História Cultural atenta às imagens do poder, as quais Thompson aborda tanto no que se refere ao teatro das autoridades como ao contrateatro popular. O artigo registra ainda uma série de pesquisas realizadas por Thompson a respeito de rituais da tradição popular (a “venda de esposas”), das formas culturais de resistência, ou dos charivari (“música ruidosa” utilizada pelas classes populares para admoestar publicamente os infratores das normas da comunidade). Adicionalmente às contribuições sintetizadas neste artigo, torna-se extrema-mente relevante a preocupação de Thompson em examinar a Cultura e a Sociedade não do ponto de vista do poder instituído, das instituições oficiais ou da literatura reconhecida, mas sim da perspectiva popular, marginal, incomum, não-oficial, das classes oprimidas – o que também o coloca como um dos pioneiros da chamada História Vista de Baixo6. É esta nova perspectiva que culmina com Senhores e Caçadores (1975), obra que é o ponto de 5
Na verdade, o objeto mais amplo de Foucault em Vigiar e Punir abarca a permanente reconfiguração histórica das ‘tecnologias de poder’ – desde aquelas tecnologias de poder que se sustentavam no século XVIII em sistemas punitivos alicerçados no ‘teatro das execuções’ até as tecnologias de poder que se estabelecem em relação ao corpo, como algo analisável e manipulável pelo poder. Para o exercício deste poder, como bem ressaltou Foucault, são constituídos vários mecanismos que vão desde os sistemas de punição historicamente localizáveis até o “olhar panóptico” – teatro do poder invisível, vigilância que dispensa a presença consolidando uma forma de poder que faz com que o indivíduo submeta-se ora sem sentir, ora por se sentir vigiado por um olho oculto que está em toda parte. 6 O rótulo “História Vista de Baixo”, aparece pela primeira vez em um artigo de Edward Thompson (“History from Below”, publicado no The Times Literary Supplement em 7 de abril de 1966 (p.278-280). Posteriormente, foi publicado um livro intitulado History from Below que consagrou o termo (KRANTZ, 1988). No Brasil, o artigo de Thompson sobre “A História vista de Baixo” foi incluído na coletânea de artigos As peculiaridades dos ingleses (2001, p.185-201). Deve se notar ainda que “História Vista de Baixo” não é bem uma especialidade da História, senão uma atitude de examinar a História.
32 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
partida para resgatar a vida dos camponeses da Inglaterra, suas lutas pelos direitos de utilizarem a florestas para a caça, seus modos de resistência ao poder constituído. Poucos autores como Thompson influenciaram tanto a historiografia cultural no Brasil. João José Reis, evocando o historiador inglês, propõe-se a investir em uma “economia moral do sentimento religioso” com A Morte é uma Festa, por ele definida como uma “História Social da Cultura” – embora admitindo alguma influência das obras de História das Mentalidades mais especificamente voltadas para o estudo das atitudes do homem diante da Morte. Em outras obras, Reis, conjuntamente com Kátia Mattoso, já havia sido um dos primeiros a chamar atenção para o fato de que os escravos brasileiros não eram apenas vítimas, mas utilizavam-se da escravidão para negociar e da sua inteligência para elaborar estratagemas que podem ser encarados como formas de resistência contra o poder que os submetia. Ou seja, a resistência processava-se em âmbitos culturais – ressalvado já o sentido moderno de cultura que inclui os sistemas de hábitos e comportamentos e as práticas e representações. Não seria possível encarar um problema tão delicado como o da escravidão a partir desta perspectiva sem o viés da História Vista de Baixo, do qual foi pioneiro Edward Thompson. Por outro lado, a questão das formas sutis de resistência empreendidas pelos escravos foi e tem sido uma questão polêmica entre os historiadores brasileiros que examinam de longa data os problemas relacionados à escravidão no século XIX. Uns encaram o estudo das estratégias desenvolvidas pelos escravos ao nível do cotidiano como um discurso historiográfico que tende a diluir a crueldade da instituição escravocrata, associando esta linha de pensamento aos precedentes de Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre7, que fora o primeiro a insistir no modelo do paternalismo. Outros, como João José Reis, insistem precisamente que enxergar o problema sob os novos ângulos das estratégias cotidianas é lançar luz sobre as múltiplas formas de resistências que os escravos podiam desenvolver, o que justifica a sua autofiliação à linha historiográfica proposta por Thompson. Mas voltemos aos aspectos relacionados à Histórica Cultural.
7
Argumenta-se que Gilberto Freyre, com esta obra pioneira, é o fundador de uma avaliação da identidade brasileira que se baseia em uma história onde os conflitos se harmonizam. Os seus adversários referem-se a esta linha de pensamento como o “mito da democracia racial”. A obra de Freyre tendeu a ser endeusada nas décadas de 30 e 40, criticada severamente pela esquerda a partir de 1950 (sobretudo a partir de 1963, quando Freyre chega a apoiar a Ditadura Militar). Por fim, sua obra é retomada pelos historiadores do cotidiano na década de 1980.
33 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
A Escola Inglesa do Marxismo é constituída ainda por outros autores da importância de Edward Thompson. Envolvendo um uso tão diversificado de fontes como o empreendido por Thompson, o percurso de Christopher Hill por uma História Cultural abordada em sua dimensão social pode ser apreendido desde a leitura de O Mundo de Ponta Cabeça (1971) – onde são examinados os diversificados extratos culturais que sustentam as idéias radicais durante a Revolução Inglesa de 16408 – até a mais recente obra sobre Oliver Cromwell (O Eleito de Deus) onde Hill encampa o projeto de realizar uma História Cultural através de uma vida biografada de maneira problematizada (HILL, 1970) – como outros fizeram dentro e fora da historiografia marxista ao se empenharem em resgatar este gênero que havia sido tão rejeitado durante a maior parte do século XX. Os estudos marxistas sobre a Cultura em sua dimensão histórica e social atingem portanto um elevado grau de maturidade a partir da década de 1970. Mas a sua raiz deve ser buscada muito antes, em autores como Georg Lukács (1885-1971) e Antonio Gramsci (1891-1937). Antes que a historiografia marxista se abrisse à explosão dos novos objetos explorados pela Escola Inglesa – que assume um conceito amplo de Cultura ao abarcar a cultura popular e também a cultura em seu sentido mais antropológico – foram estes autores que abriram caminhos para uma História Cultural alicerçada nos fundamentos do Materialismo Histórico. Lukács passa a dirigir sua atenção para os problemas da Cultura – particularmente para o campo estético – após o período que culminou com a produção de História e Consciência de Classe (1922), sua obra mais conhecida. É com base em uma corajosa autocrítica, que leva Lukács a rever alguns dos pontos de vista ligados a esta última obra, que se iniciam suas novas considerações estéticas. Começando por coligir e analisar criticamente uma série de textos mais específicos em que Marx e Engels haviam refletido sobre questões relacionadas à Arte e à Literatura, o pensador
8
Nesta obra, a idéia de Hill é precisamente a de examinar todo um universo cultural que havia sido negligenciado pelos historiadores da Revolução Inglesa, mais preocupados com os extratos culturais associados à Reforma e à filosofia mecanicista, ou com a cisão política entre realistas e parlamentaristas. Hill estuda um âmbito cultural e político pouco conhecido, o da “revolta no interior da Revolução”, povoado por uma miríade de grupos como os dos quackers, levellers, diggers e ranters. Este terceiro mundo começa a vir à tona quando Hill faz às fontes certas as perguntas certas, e quando assume uma nova perspectiva historiográfica que antecipa surpreendentemente tendências posteriores. Criticando outro historiador que examinou o mesmo período, Hill anuncia: “o seu ponto de vista é o do alto, do paço de Whitehall, enquanto o meu é o ponto de vista da minhoca. O índice no final de seu livro e o meu contém listas de nomes completamente diferentes” (2001, p.30).
34 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
húngaro passa a privilegiar portanto um enfoque claramente cultural 9. Ponto alto deste percurso de reflexão é a célebre polêmica de 1937 com o dramaturgo Bertolt Brecht. Os dois autores foram teóricos de uma “estética engajada”, que preconizava um envolvimento do artista com as mudanças sócio-políticas de sua realidade através da adesão a uma arte “realista”. Divergem porém no que consideram como um autêntico “realismo”: para Lukács, um realismo formal que tinha seu modelo nos romancistas do século XIX; para Brecht um realismo que podia assumir novas formas e tendências mais modernas, inclusive o expressionismo10. No que se refere ao relacionamento entre Arte e realidade social, Lukács ainda se funda na “teoria do reflexo”, mas já admite (retomando alguns textos de Lênin) que o reflexo do real na consciência não é um ato simples e direto11. Com Gramsci teremos novos elementos de interesse para uma História Cultural. Em primeiro lugar, o filósofo italiano afirma que todos os homens, sem exceção, são intelectuais – mesmo que não desempenhem na sociedade a função estrita de intelectuais (1949). Isto abriria, no futuro, a possibilidade de estudos sobre a multidiversificação de sujeitos produtores de cultura. Além disto, Gramsci também foi um dos primeiros a ressaltar o que chamou de “caráter ativo das superestruturas”, o que o levou a adotar o conceito de “bloco histórico” como uma totalidade constituída pela interação entre a infra e a estrutura. Claramente vemos aqui os antecedentes da ampliação do conceito de modo de produção para a inclusão do âmbito cultural, tal como seria proposto por Thompson. Com relação a seus objetos de interesse, Gramsci ocupou-se principalmente dos mediadores culturais identificados com os “intelectuais”, desdobrando-se daí a sua célebre tipificação entre “intelectuais tradicionais” e “intelectuais orgânicos” e a sua projeção nos ambientes rural e urbano. Por outro lado, sua preocupação básica era estudar os mecanismos hegemônicos, através dos quais um grupo social podia exercer
9
O trabalho voltado para a recuperação e crítica dos textos estéticos de Marx e Engels foi realizado em colaboração com Mikhail Lifschitz, historiador soviético também interessado nos aspectos culturais. 10 “Realismo” para Brecht era “pôr a nu” a verdadeira vida social e desmascarar o ponto de vista da classe dominante, sem que isto implicasse em utilizar as formas do realismo antigo. Precisamente para acompanhar as mudanças de seu tempo, o artista engajado deveria ser aberto às novas formas, sem que isto implicasse no compromisso de sua atitude autenticamente realista com um estilo qualquer em particular (BRECHT, 1955). 11 Em Plekhanov (1875-1918), um dos primeiros críticos marxistas da arte, esta dependência da criação estética em relação às circunstâncias sócio-econômicas era mais estreita e linear – o que mereceu severas críticas de Gramsci. Já Mehring (1846-1919) e Trotski (1877-1940) reconheceriam uma relativa autonomia da arte. A teoria do reflexo tornou-se ainda mais linear com o stalinismo.
35 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
seu poder na sociedade de formas muito mais penetrantes do que o mero exercício do poder estatal – formas que atravessavam precisamente o âmbito cultural. Outra torrente de renovações que incide decisivamente sobre as perspectivas de uma nova História Cultural advém da chamada Escola de Frankfurt – tendência do Materialismo Histórico que propõe uma radical renovação do marxismo e que incorpora um atento diálogo com a Psicanálise e com as teorias da Comunicação, enveredando a partir daí por estudos que privilegiam diversificados aspectos culturais da vida social. O grupo surgiu na Alemanha de 1925, tendo entre seus principais representantes Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamim, Max Horkheimer, e mais tarde Jürgen Habermas. Não se trata propriamente um grupo de historiadores – sendo basicamente constituído por filósofos, sociólogos e psicólogos – e suas preocupações fundamentais associam-se ao desenvolvimento do Capitalismo na modernidade. Mas em todo o caso, pode-se dizer que as temáticas exploradas pela Escola de Frankfurt contribuíram para um tratamento mais diversificado da Cultura, sem o qual não seria possível uma História Cultural em sentido pleno. Além de suas renovadoras críticas à racionalidade moderna, ao autoritarismo e ao totalitarismo político (inclusive à vertente stalinista da época) os temas privilegiados pela Escola de Frankfurt e que interessam mais propriamente a uma História Cultural voltam-se para a cultura de massas, para o papel da ciência e da tecnologia na sociedade moderna, para a família, para a sexualidade. Aparece ainda um especial interesse pelos problemas relacionados à alienação, à perda de autonomia do sujeito na sociedade industrializada. Para compreenderem todos estes objetos a partir de uma perspectiva aberta, os frankfurtianos expandem audaciosamente os limites do Materialismo Histórico: fiéis aos textos primordiais de Marx – notadamente àqueles que abordam a alienação, a ideologia, o fetichismo da mercadoria e a dimensão cultural e filosófica tocada pelos Manuscritos de 1844 – eles também se tornam leitores atentos de Nietzsche, de Heidegger, de Freud. Adorno, interessado em uma Estética Musical, torna-se aluno de composição de Schoenberg, músico que introduziu o atonalismo na Música moderna. Walter Benjamim aprofunda-se no estudo da estética do Cinema, a arte de massas por excelência (em uma época que ainda não conhecera a explosão televisiva). Jürgen Habermas envereda pelos caminhos da semiotização da cultura, elaborando uma teoria da “ação comunicativa”.
36 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
As contribuições de Habermas para uma teoria social da Cultura têm a sua pedra angular na percepção do fato fundamental de que a sociedade e a cultura são estruturadas em torno ou através de ‘símbolos’ – símbolos que exigem, naturalmente, interpretação. Mais propriamente com relação à sua “teoria da ação comunicativa”, Jürgen Habermas desenvolve o pressuposto inicial de que qualquer processo comunicativo parte da utilização de regras semânticas inteligíveis para outros – o que, dito de outra forma, corresponde à compreensão da ação comunicativa como inserida em um sistema e uma rede semióticas. O uso de um idioma, por exemplo, traria em si – para além de visões de mundo – determinadas normas sociais e direitos que seriam evocados automaticamente pelo emissor de um discurso, com ou sem uma auto-reflexão consciente deste processo. Na verdade, o conhecimento social seria governado por normas consensuais capazes de definir expectativas recíprocas sobre o comportamento dos indivíduos. Por fim, o processo comunicativo idealmente completo estaria ainda assinalado pela intenção ou convicção de transmitir um conteúdo verdadeiro – e seria precisamente a transgressão desta norma (comum, aliás) o que geraria a chamada “comunicação distorcida”. Daí os estudos de Habermas sobre os processos mediante os quais uma ideologia distorce a realidade e sobre os fatores que influenciariam a “falsa consciência” destinada a representar os poderes de dominação. Conforme veremos mais adiante, a reflexão em torno do conceito de “ideologia”, aqui evocado, é fundamental para uma História da Cultura colocada em interface com uma História Social. Examina-se precisamente o modo como a rede de dependências dos indivíduos que coexistem em sociedade está amarrada por um entremeado de fatores sexuais, raciais, religiosos, educacionais, profissionais, políticos, tecnológicos, e culturais enfim. A atenção às relações entre Cultura e Linguagem está na base de uma série de outros desenvolvimentos importantes para uma teorização da Cultura. Como a linguagem é essencialmente dialógica (envolve necessariamente um confronto plural de vozes diferenciadas) os diálogos entre a Sociologia da Cultura e a lingüística acabaram abrindo espaço para uma concepção mais plural e dialógica da própria Cultura. Nesta esteira, é ainda dentro do Materialismo Histórico que encontraremos a inspiração para uma História Cultural que tomaremos a liberdade de adjetivar como “polifônica”. Pensar a Cultura em termos de polifonia é buscar as suas múltiplas vozes, seja para identificar a interação e o contraste entre extratos culturais diversificados no interior de 37 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
uma mesma sociedade, seja para examinar o diálogo ou o “choque cultural” entre duas culturas distintas. Dentro deste viés – que dialoga habilmente com a lingüística e a com a semiótica – encontraremos autores como Mikhail Bakhtin e Todorov. A obra pioneira deste grupo é a célebre tese de Bakhtin sobre a Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento (1946) – obra que inaugura o estudo do “dialogismo”, das várias vozes que podem ser perceptíveis em uma mesma prática cultural ou em um mesmo texto, ou até mesmo no interior de uma única palavra. A sistematização teórica das idéias de Bakhtin encontra um ponto de partida em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), e envereda depois pela análise da “polifonia de vozes” que o historiador e o lingüista podem decifrar em obras artísticas e literárias, como no caso dos estudos de Mikhail Bakhtin sobre os romances de Dostoievski. É de Bakhtin que Carlo Ginzburg, micro-historiador italiano que já não se localiza mais propriamente dentro do âmbito do Materialismo Histórico, extrai a sua influência principal para a constituição de uma noção operacionalizável de “circularidade cultural”. Enquanto Bakhtin examina a cultura popular filtrada por um intelectual renascentista (Rabelais), Carlo Ginzburg realiza a operação inversa: em O Queijo e os Vermes: seu moleiro Menocchio reapropria-se de obras da literatura oficialmente aceita para constituir uma visão de mundo inteiramente original. É a cultura oficial que agora aparece filtrada pelo ponto de vista popular. A contribuição das duas obras à História Cultural está portanto na possibilidade de empreender a leitura de uma cultura a partir de outra. Com elas, a História Cultural passa a se beneficiar das possibilidades de uma leitura efetivamente polifônica de suas fontes. Outro autor bastante influenciado por Bakhtin é Tzvetan Todorov, que escreveu um livro que já é hoje um clássico sobre A Conquista da América (1982). Aqui, o que se pretende examinar é precisamente o “choque de culturas” produzido pelo confronto entre duas civilizações tão distintas como a européia e a dos nativos meso-americanos. A História Cultural consolida aqui alguns de seus conceitos fundamentais, como o de “alteridade cultural”. Adicionalmente, Todorov é também responsável por novos métodos destinados à análise de narrativas (1994).
38 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
6. A História Cultural e as Práticas Discursivas É imprescindível remarcar ainda a presença, na História Cultural e suas adjacências, de todo um grupo de historiadores que toma para objeto o discurso científico, e o discurso historiográfico em particular, consolidando uma linha de reflexões que teve alguns de seus textos pioneiros com Michel Foucault, notadamente a partir de A Arqueologia do Saber (1969). Herdeiros desta nova perspectiva que desloca o olhar de uma pretensa realidade social para o campo dos discursos, aparecem aqui as análises de Hayden White (1973) e Dominick LaCapra (1985) a respeito da História como uma forma de narrativa como todas as outras, a incluir componentes de retórica, estilo e imaginação literária que devem ser decifradas pelos analistas do discurso historiográfico. Ocorre aqui uma conexão entre a História Cultural (‘dimensão’ examinada pelo historiador) e uma História do Discurso (‘abordagem’, aqui entendida como o campo histórico que examina o discurso a partir de técnicas diversas como a semiótica e a análise do discurso propriamente dita). Voltaremos a este aspecto quando discutirmos as abordagens historiográficas relativas ao tratamento do discurso. Por fim, há aqueles historiadores da cultura que se especializaram em certos ‘domínios’ da História, como por exemplo Gombrich e Giulio Carlo Argan para o caso da História da Arte – este último um historiador associado à perspectiva marxista (à qual deveremos aliás acrescentar os trabalhos de Arnold Hauser, particularmente preocupado em constituir uma História Social da Arte e uma História Social da Cultura). Domínios ainda mais específicos têm se constituído em especialidades dos historiadores da cultura, como é o caso de Paul Zumthor, que tem se dedicado incisivamente à literatura medieval, e ainda mais especificamente à poesia trovadoresca. Para além das variedades de História Cultural, a História Antropológica também enfoca a ‘Cultura’, mas mais particularmente nos seus sentidos antropológicos. Privilegia problemas relativos à ‘alteridade’, e interessa-se especialmente pelos povos ágrafos, pelas minorias, pelos modos de comportamento não-convencionais, pela organização familiar, pelas estruturas de parentesco. Em alguns de seus interesses, irmana-se com a Etno-História, por vezes assimilando esta última categoria histórica aos seus quadros. De certo modo, o que funda a História Antropológica como um campo novo, mais específico que a História Cultural, é a utilização da antropologia como modelo, mais do que os objetos antropológicos propriamente ditos. Os historiadores descobriram 39 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
nas últimas décadas do século XX a possibilidade de uso de conceitos e procedimentos oriundos tanto da vertente antropológica representada por autores como Clifford Geertz (1973) – com sua técnica da “descrição densa”, que já veremos ser de vital importância para algumas das novas abordagens historiográficas – como da vertente que trata as culturas como sistemas de signos, e que ficou conhecida como Antropologia Estrutural, tendo em Lévi-Strauss e Marshall Sahlins os seus principais representantes. Um bom trabalho de História Antropológica foi o que fez Le Roy Ladurie em Montaillou, uma vila occitânica (1975). Nesta obra, o historiador francês procura recuperar a vida comunitária de uma aldeia entre o final do século XIII e o início do século XIV. Os interesses do autor voltam-se precisamente para estes objetos tão caros à antropologia: a vida familiar, a sexualidade, as práticas matrimoniais, a rede de micropoderes que afetam a comunidade, o âmbito das crenças religiosas e das práticas de magia natural. Na verdade, temos aqui uma história antropológica que também entra pelos caminhos de uma História da Cultura Material, embora esta cultura material seja percebida essencialmente a partir de uma documentação escrita formada pelos registros inquisitoriais (a aldeia em questão deixou vestígios precisamente por ter acolhido em seu seio a heresia cátara com o conseqüente processo de Inquisição instalado pela Igreja). É a partir destas fontes que Ladurie logra obter traços da vida cotidiana. Neste sentido, Montaillou acha-se em uma rica conexão de História Antropológica, História da Cultura Material, História do Cotidiano e História Local (já que, neste último caso, atém-se a limites espaciais bem precisos). Em linhas gerais, e deixando de fora muitas obras e autores igualmente significativos mas que não poderiam ser abordados neste breve panorama, eis aqui um panorama de algumas das tendências mais basilares da História Cultural no decurso do século XX, todas deixando importantes heranças historiográficas para o século XXI.
BIBLIOGRAFIA ANTAL, Frederick. Florentine Painting and its Social Background. London: Kegan Paul, 1947. ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 1975.
40 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
BAKHTIN, Mikhail. Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento – o contexto de François Rabelais. São Paulo: HUCITEC, 1985 [original: 1946]. ______. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 1981 [original: 1929]. BRECHT, Berthold. On Theatre, London: Methuen, 1955. BURCKHARDT, Jacob. Civilization of the Renaissance in Italy [1860]. London: Harmonsworth, 1990. BURKE, Peter. “História Cultural: passado, presente e futuro” In O Mundo como Teatro, São Paulo: DIFEL, 1992. ______. O Que é História Cultural? Rio de Janeiro: Zahar, 2005 [original: 2004] ______. Unidade e Variedade na História Cultural (1997) In: Variedades da História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p.233-267 BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discusivos del sexo. Buenos Aires: Paidós, 2002. CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural. Campinas. Papirus, 2005. ______. L’invention du quotidien, Paris, Union Générales d’Editions, 1980. CHARTIER, Roger. À Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre: UFRGS, 2002. ______. O Mundo como Representação. In: À Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre: UFRGS, 2002. p.61-78. _______. A História Cultural – entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990 [original: 1982]. DARNTON, Robert. O Grande Massacre dos Gatos. Rio de Janeiro: Graal, 1984. DUBY, Georges. Problemas e Métodos em História Cultural. In: Idade Média, Idade dos Homens – do Amor e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 125-130. EBREY, Patricia. The Inner Quarters: Marriage and the Lives of Chinese Women in the Sung Period. Los Angels: University of California Press, 1993. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990 [original: 1939]. FONTANA, Joseph. História dos Homens. Bauru: EDUSC, 2000 FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1972. 41 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
______. Surveiller et Punri – Naissance de la Prision, Paris, Gallimard, 1975 (Vigiar e Punir, história da violência nas prisões, Petrópolis, Vozes, 1977). FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1962. GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro: LTC, 1989. GINZBURG, Carlo. O Inquisidor como Antropólogo. In: A Micro-História e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991[original: The Inquisitor as Anthropologist: an Analogy and its implications” in Class, Myths and the Historical Method. Baltimore: John Hopkins University Press, 1989] ______. O Queijo e os Vermes. São Paulo: CIA das Letras, 1989. GODELIER, Maurice. L’idéel et le matériel. Paris: Fayard, 1984 GOMBRICH, Ernst H. In Search of Cultural History (1969). In: Ideals and Idols. London: 1979, p.25-59. GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Formação da Cultura, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982 [original póstumo: 1949]. HALL, Stuart. Cultural Studies: Two Paradigms (1980). In: STOREY, John (org). What is Cultural Studies? London: Arnold, 1996, p.31-8. HAUSER, Arnold. História Social da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2003 [original: 1951]. HILL, Christopher. O Mundo de Ponta Cabeça, São Paulo: Companhia das Letras, 1991 [original: 1971]. ______. Origens intelectuais da Revolução Inglesa. S. Paulo: Martins Fontes, 1992. ______. O Eleito de Deus, São Paulo: Cia. das Letras, 2001 [original: 1970]. HOBBSBAWM, Eric e RANGER, T. A Invenção da Tradição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 [original: 1983] HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. HUIZINGA, Johan. “Tarefas da História Cultural”. Ultrecht: 1926 [“The Task of Cultural History” in Men and Ideas. New York: Meridian Books, 1959, p.17-76. KLINGENDER, Francis. Art and the Industrial Revolution. London: Noel Carrington, 1947. KROEBER, Alfred e PARSONS, Talcott. The concept of culture and of social system. American Sociological Review. 1958. 42 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
LaCAPRA, Dominick, Rethinking History: Texts, Contexts Language, Nova York: Ithaca, 1983. LE ROY LADURIE, Emmanuel. Montailou, village occitan. Paris: Gallimard, 1975 [original: 1975]. LEVINE, Lawrence W. Highbrow-Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America. Cambridge Mas: Harvard, University Press 1988. p.11-81. LOTMAN, Júri. Poética do Comportamento Cotidiano. 1984. LUKÁCS, Georg. História e Consciência de Classe. Porto: Elfos, 1974. MARX, Karl. Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Linhas Básicas para a Crítica da Economia Política). Berlim: Dietz, 1953 [original: 1858]. ______. Manuscritos Econômico-Filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1991 [original: 1844] PANOFSKY, Erwin. A Arquitetura Gótica e a Escolástica. São Paulo: Martins Fontes, 1991 [original: 1951]. PROST, Antoine. Social y cultural, indisociablemente. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François. Para uma história cultural. México: Taurus, 1999. REIS, João José. A Morte é uma Festa. São Paulo: Companhias das Letras, 1992. THOMPSON, Edward P. Folclore, Antropologia e História Social. In: As peculiaridades dos ingleses e outros artigos, São Paulo: UNICAMP, 2001. p.254-255] [“Folklore, anthropology and social history”, The Indian Historical Review, n2, 1977]. ______. A História Vista de Baixo. In: As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. São Paulo: UNICAMP, 2001. ______. A Formação da Classe Operária Inglesa, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 3 vol [original: 1963]. ______. Senhores e Caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 [original: 1975]. TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América – a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1993 [original: 1982]. TYLOR, Edward. Primitive Culture. London: John Mursry & Co, 1871. WILLIAMS, Daryle. Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime (1930-1945). Durham: NC, 2001. 43 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
WARBURG, Aby. Gesammelte Schriften. Berlim: 1932. WHITE, Hayden. A Meta-História – a Imaginação Histórica no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992 [original inglês: 1973].
Artigo recebido em: 12 de Agosto de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
44 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
O FESTIVAL DE OSÍRIS E A LEGITIMAÇÃO DA MONARQUIA FARAÔNICA NO EGITO ANTIGO DURANTE O REINO MÉDIO TARDIO (1939 – 1685 A.C.). BEATRIZ MOREIRA DA COSTA
RESUMO A manutenção do status divino do faraó no Egito Antigo era de grande importância para a ideologia real. Dessa forma o faraó participava de numerosos rituais e festivais destinados a reforçar a sua divindade e a sua relação com o ka real. A partir do pressuposto que ação ritual é poder, o presente artigo tem como objetivo analisar o Festival de Osíris, tendo como recorte temporal o Reino Médio Tardio. PALAVRAS-CHAVES: Festival de Osíris; Reino Médio Tardio; Prática Ritual.
ABSTRACT: The maintenance of the divine status of the pharaoh in ancient Egypt was of great importance to the real ideology. Thus Pharaoh participated in numerous rituals and festivals to strengthen his divinity and his relationship with the royal ka. Assuming that ritual action is power, this article aims to analyze the Osiris Festival, with the time frame the Late Middle Kingdom. KEYWORDS: Osiris Festival; Late Middle Kingdom; Ritual Practice.
***
Graduanda do curso de História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) na linha de pesquisa Cultura Material da Antiguidade Clássica e os desafios da Educação Patrimonial, sob a orientação da Profª. Drª. Regina Maria da Cunha Bustamante. Membro do Grupo de Estudos Kemet (GEKemet/CEIA-UFF) e do Conselho Editorial da Revista Poder & Cultura.
45 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
1. Introdução O Mito de Osíris1 como se concebe nos dias atuais – em narrativa – é obra de Plutarco (45 – 120 d. C), historiador grego, que escreveu Os Mistérios de Ísis e de Osíris, entretanto o Mito de Osíris não está originalmente em forma narrativa e sim em fragmentos de passagens – sejam nos textos das pirâmides ou em papiros –. Não há evidências que o Mito de Osíris era entendido no período faraônico como um todo narrativo e sequencial, como aparece em Plutarco. Osíris é um dos principais deuses do Egito Antigo, sendo cultuado em todo território egípcio desde o período pré-dinástico até o período greco-romano. Já nos Textos das Pirâmides2 a presença do deus era indubitável, cumprindo função importante no enterro dos mortos, e cada vez mais, ao longo da história egípcia, ocupava um papel central não só em relação às práticas funerárias, mas também para a própria afirmação estrutural da monarquia faraônica3. Para alguns egiptólogos – como Kurt Sethe, E. Otto, H. Kees - no período prédinástico, Osíris era um deus ligado à agricultura, à fertilidade do solo e ao ciclo anual do Rio de Nilo. No Reino Antigo, conforme apontado mais especificamente nos Textos das Pirâmides, há evidências de que Osíris já possuía a sua personalidade divina original e mais conhecida: a de deus do mundo dos mortos. A discussão sobre como Osíris deixou de ser considerado – e se de fato foi considerado – um deus da agricultura (nature god) para passar a ser o deus do mundo dos mortos é fervorosa. Segundo um
1 De acordo com o mito, Osíris, faraó do Egito, é traído e assassinado por seu irmão Seth, tendo seu trono usurpado. Seth, com a intenção de impedir a mumificação do irmão, espalha seus restos mortais em todo o Egito. A deusa Ísis, esposa de Osíris, consegue juntar todos os pedaços, exceto o seu órgão reprodutor, que durante o ritual de mumificação feito por Anúbis, surge em forma de madeira e fecunda Ísis que mais tarde dará luz a Hórus. Hórus, representado com corpo de homem e cabeça de falcão, perdeu o olho direito na batalha contra seu tio Seth, aonde vingou seu pai e retomou o trono do Egito. Um digno exemplo de tal percepção do Mito está presente no capítulo nomeado “Romance de Ísis” presente no livro FRANCHINI, A.S; SEGANFREDO, Carmen. As melhores histórias da mitologia Nórdica. Porto Alegre: L&PM, 2006. Pp.53-132. 2 “Os Textos das Pirâmides estão inscritos em paredes de cinco pirâmides em Saqqara, que pertencem aos reis Unas, Teti, Pepi I, Merenre e Pepi II, das V e VI Dinastias; [...] O propósito essencial dos textos era possibilitar ao rei alcançar o céu e tomar o seu lugar de direito entre os deuses na comitiva de Rá. [...]”.DAVID, Rosalie. Religião e Magia no Egito Antigo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. Pp. 132 – 133. 3 Osíris foi incorporado às concepções solares da teologia Heliopolitana, pois reafirmava a posição mitológica e deificada que o faraó morto iria cumprir após a morte em associação com Osíris, enquanto que o faraó reinante vivo encarnaria a figura de Hórus.
46 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
esquema montado por Josef W. Wegner4 as diferentes teorias contam com nomes importantes que defendem duas posições diferentes, por vezes complementares: o modelo tradicional de interpretação, com Kurt Sethe, E. Otto, H. Kees, entre outros; e o modelo que defende a origem abidiana, interpretação de John Gwyn Griffiths. A primeira interpretação entende que inicialmente Osíris era oficialmente o deus da agricultura, responsável pelas cheias do Nilo, pela fertilidade do solo e tendo seu principal local de culto em Busíris, localizado no delta. Em Busíris, Osíris herdou características antropomórficas comuns aos deuses dos locais que tinham fronteira com a sírio-palestina, lá ainda apropriou características de um deus local chamado Andjety, o qual possuía atributos ligados à realeza. A partir desse momento, o seu culto alastrou-se pelo Egito, fazendo-o compor a Grande Enéada Heliopolitana5, e consequentemente, passou a fazer parte dos Textos das Pirâmides e da religião funerária da realeza. Ao adquirir um mito estrategicamente formado pela teologia Heliopolitana, Osíris começa a ser associado a uma figura real do período tinita, a qual provavelmente foi enterrada em Abídos – localizado no nomo de Thinis -, a partir dessa associação, Osíris absorve a forma de culto do deus local Khentiamentiu – deus do cemitério – e passa a ser compreendido somente enquanto aquele que governa o mundo dos mortos como juiz e faraó. O segundo modelo interpretativo pertence à Griffiths. Para o egiptólogo não há nenhuma evidência sólida ligando Osíris a um tipo de deus da natureza e da agricultura nos períodos pré-dinásticos. Para o autor, a associação com o ciclo da natureza e do rio Nilo será consequência direta do seu mito e não força-motriz. Segundo Griffiths, no período tinita há o desenvolvimento de Osíris e de seu mito em associação à tradição de enterramento real em Abídos, somente depois que haverá a expansão do culto à Busíris. O autor utiliza os Textos das Pirâmides para fundamentar a sua hipótese, uma vez que já nessas fontes, é possível compreender uma relação direta com as passagens ligadas a Osíris – inclusive ao seu Mito – e a topografia de Abídos. Ainda de acordo com os Textos das Pirâmides, o autor comprova que não há nenhuma ligação de Osíris com o Norte do Egito, enquanto inúmeras passagens ligam o deus ao Alto Egito e a Abídos. A
4
WEGNER, Josef. The Mortuary Complex of Senwosret III: A study of Middle Kingdom state activity and the cult of Osiris at Abydos. 1996, Tese (Doutorado em Filosofia) - University of Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos, 1996. 5 Segundo as listagens reais egípcias, os primeiros faraós eram descendentes diretos dos deuses que governaram o Egito Antigo. Dessa forma, acreditava-se que Osíris foi de fato faraó e havia sido enterrado em Abídos, assim como os faraós do período tinita. A tumba de Osíris é identificada como a de Djer.
47 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
inclusão de Osíris na Grande Enéada Heliopolitana6 é justificada pela compreensão do Mito de Osíris como a própria cerimônia funerária em si e pelos aspectos ideológicos que favoreceriam a realeza. Após o turbulento Primeiro Período Intermediário, foi necessária uma política de centralização do Estado, assim como estratégias de cooptar ideologias que favorecessem tanto a reputação quanto a autopromoção do faraó. A associação do faraó morto com Osíris e do faraó vivo com Hórus é uma peça chave para a deificação do faraó reinante e de seu antecessor falecido. No Reino Médio, Osíris e seu culto irão ganhar papel de destaque, assim como Abídos irá vivenciar um desenvolvimento cada vez maior como centro de culto, além de receber diversas construções reais, seja um novo projeto ou uma reconstrução nas estruturas existentes. Além da preocupação da realeza, há de se mencionar a crescente participação de setores não-reais no local. Uma das principais evidências da importância de Osíris e de Abídos no Reino Médio é o Festival de Osíris ou Mistérios de Osíris, alvo de atenção da maioria dos faraós reinantes durante o período. O festival era um evento anual que encenava o Mito de Osíris, onde em uma procissão, os egípcios levavam a estátua de Osíris de seu templo construído em Abídos até a sua tumba em Peker7 (região localizada ao sul da cidade), sua imagem era velada durante a madrugada com diversos rituais performáticos e era de fato um louvor à vida e a morte do deus. A importância dessa procissão é confirmada na quantidade de capelas construídas voltadas para via onde a imagem do deus percorria. A principal fonte sobre o festival é a estela de Ikhernofret 8 proveniente de Abídos no Império Médio, a qual foi encomendada por Senusret III, e, dessa forma, consiste em uma cópia de uma edição textual mais antiga sobre o festival. Tendo em conta a complexidade da temática e dos conceitos envolvidos no objeto abordado e o caráter sintético que envolve a proposta de um artigo, o objetivo do artigo é analisar o Festival de Osíris, tomando como pressuposto a análise realizada por Ciro Flamarion Cardoso, em um artigo intitulado Festivais como Encenação da Sociedade. No referido artigo, o autor traz a indagação de que a ação ritual é poder – muito mais que instrumento de poder e de controle – ao analisar dois exemplos de ação ritual - um egípcio antigo, o Festival de Opet (Tebas, século XIII a.C.) e outro
6
É importante citar que segundo a interpretação de Griffiths, a inclusão do episódio de luta entra Seth e Osíris foi algo planejado pela teologia heliopolitana. 7 Há evidências de que Peker corresponde à Umm el-Qa’ab (Mãe dos Potes). 8 Alto oficial do governo de Senusret III.
48 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
helênico, um episódio da volta de Pisístrato ao poder (Atenas, século XI a.C.) – defendendo que em ambos houve uma encenação do social.
2. O Reino Médio: aspectos político-sociais. O Primeiro Período Intermediário consiste em um momento de instabilidade política, onde o Egito estava dividido em várias unidades políticas que possuíam governantes quase independentes, e de certo pessimismo expressado, principalmente, através da abundante literatura. Segundo Rosalie David9, a situação interna do país estava em verdadeira crise, o colapso da monarquia em Menfis conduziu um período de caos e anarquia, perpassando problemas tais como ausência de uma administração central forte, fome e irregularidade no sistema de irrigação. Já a situação externa lidava com a ausência de atividade comercial, ou de qualquer outa função, com os povos costumeiros – sírio-palestina, Biblos, Mediterrâneo, Sinai, Núbia – e além disso, os Beduínos, “habitantes da areia”, invadiram o Delta por volta do fim da VIII dinastia agravando o colapso político e social. Uma das consequências do Primeiro Período Intermediário vai ser nomeada de “democratização da vida pós-morte”10 por alguns egiptólogos. A questão que nos interessa é que o papel funerário do deus Osíris ganhará impulso, uma vez que a pulverização do poder menfita conduz a “democratização” dos privilégios reais, influenciando diretamente no aumento do poder de dinastias locais, conduzindo-o a certa autonomia funerária – eles mesmos assumem seu futuro no além apoiando-se em deuses locais. A XI dinastia foi marcada pela crescente anexação de territórios visando à reunificação do Egito. Já Intef II, segundo faraó da XI dinastia 11, reinou do sul de Elefantina até Abídos. Seu reinado é contemplado pela renovação de vários templos ligados à deificação da realeza, como os de Abídos, Heliópolis e Hieracompolis, templos de Osíris-Khenty-Amentiu, Rá e Hórus, respectivamente.
9
DAVID, Rosalie. Religião e Magia no Egito Antigo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. Para discussão aprofundada em língua portuguesa, vide JOÃO, Maria Thereza David. Dos Textos das Pirâmides aos Textos dos Sarcófagos: considerações sobre a democratização da imortalidade no Egito antigo. Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2008. 11 Segundo cronologia seguida por Wolfram Grajetzski. 10
49 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
A reunificação do Egito veio do Sul e estava completa sob o reinado de Nebhepetre Mentuhotep II, filho de Intef III. O governo de Mentuhotep II foi marcado pela visível preocupação em transmitir uma imagem de estabilidade através da propaganda real12, mudou seu Nome de Hórus13 duas vezes, tendo sua forma final no 39º ano de reinado como Hórus Sematawy - Aquele que uniu as Duas Terras -. Promoveu uma campanha militar para a Palestina e para Núbia, visando à tentativa de retomar os contatos com ambas as localidades. Iniciou um programa real de construção em larga escala, construindo em diversos sítios no Alto Egito. Mentuhotep II, ao reorganizar a administração da corte real, acabou por criar condições de estabilidade para que os governadores provinciais devessem fidelidade a ele, mesmo conservando alguma independência, e pudessem construir suas próprias tumbas como vinham fazendo. A XII dinastia é inaugurada com o faraó Sehetepibre Amenemhat I, portando o nome de Hórus Wehem-mesut – Renascimento -. Amenemhat I é conhecido pela crescente política de defesa, promovendo campanhas militares contra a Núbia, Ásia e Lybia visando à proteção do Egito, além do sistema de defesa nomeado “Muro do Príncipe”. O faraó continuou o programa de reconstrução e renovação dos templos e também implementou a corregência, governando conjuntamente com Kheperkare Senusret I. Segundo Wolfram Grajetzki14, a posição de Senusret I não estava muito estável e por isso o faraó voltou à atenção para a renovação em larga em escala de templos importantes em todo Egito para poder se fazer presente no país inteiro. Uma importante renovação feita por Senusret I foi no templo de Osíris em Abídos, além de parecer ter iniciado o costume de erigir estelas e/ou capelas em Abídos, já que a primeira estela de Abídos possui o nome do faraó. Ainda sob o governo de Senusret I, houve a total conquista da Núbia, indicada por fortalezas fundadas sob o território demonstrando que o faraó foi aonde nunca outro havia ido anteriormente, além de ter sido a primeira vez que o Egito conquistou uma área fora de seu país e a manteve sob controle.
12
Segundo Wolfram Grajetzki: “Nomes reais são sempre parte da propaganda real”. GRAJETZKI, Wolfram. The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology And Society. London: Duckworth, 2006. Pp. 19. 13 Parte da titulatura real. 14 GRAJETZKI, Wolfram. The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology And Society. London: Duckworth, 2006. Pp. 38 - 40.
50 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Os faraós da XII dinastia tiveram políticas internas e externas muito parecidas, consistindo em campanhas militares em territórios estrangeiros, inicialmente propendendo à defesa do Egito e posteriormente controlando tais territórios, como dito anteriormente. Senusret III, por exemplo, no 8º ano de seu reinado conquistou a Núbia até o território de Semna, já no 19º ano o faraó atravessou Kush, além de ter sido cultuado como deus local núbio. Já a política interna é marcada pela constante renovação e construção de templos objetivando a legitimação de sua posição enquanto faraó, assim como alteração da administração da corte real e reorganização das administrações locais para minar possíveis perigos.
3. O Festival de Osíris: a estrutura ritual. Os Festivais divinos e reais (hebu) no Egito Antigo eram abundantes, tinham características em comum e se diferenciavam em alguns aspectos. No Reino Novo existiam festivais importantes, inclusive melhor conhecidos por possuírem mais fontes, como o Festival de Opet, a Bela Festa do Vale, o Festival de Khoiak, entre outros. Cada festival era celebrado segundo sua própria temporalidade, alguns seguiam as estações, outros eram anuais ou mesmo mensais. O Festival de heb-sed, por exemplo, era uma celebração que ocorria no 30º ano de reinado do faraó visando o seu rejuvenescimento, respeitando uma frequência diferenciada. A característica comum entre eles eram as etapas, a grande maioria consistia na saída de uma imagem do deus cultuado do seu templo até outro local, essa trajetória poderia ser feita diretamente entre um ponto até o outro, ou então a imagem do deus circulava por templos próximos. A imagem do deus quase sempre era levada em uma barca – os formatos e números eram diferentes de um festival para o outro – e tinha que ser levada dentro de um “cabine sagrada” (exemplo na Figura 1) e ao longo da procissão eram realizados ritos performáticos condizentes com o festival celebrado.
Figura 1. Festival de Opet. Reino Novo. Relevo proveniente do Templo de Hatshepsut.
51 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
O faraó em pessoa deveria comandar os festivais, quando não podia estar presente, delegava que algum funcionário de confiança o fizesse. No caso do Festival de Osíris descrito na estela de Ikhernofret, Senusret III delega que ele enquanto alto funcionário real comandasse o festival. O povo somente tinha espaço durante as festas quando a imagem percorria a via processional e é exatamente nessa via que a população enxergava a possibilidade de participar diretamente do culto através do estabelecimento de capelas votivas e de oferendas. As outras etapas eram conduzidas por funcionários reais e sacerdotes dentro de espaços os quais o povo não tinha acesso, por exemplo, nos próprios templos.
Figura 2. Estela de Ikhernofret. Museu de Berlim, Alemanha (Estela Berlin 1204).
A Estela de Ikhernofret15 fornece dados sobre a preparação, assim como as respectivas etapas e razões que o alto oficial teve para promover o Festival de Osíris. Minha majestade (Senusret III) comanda que tu há de ir ao sul até Abídos em Tawer16, para construir monumentos para o meu pai Osiris, O Primeiro dos Ocidentais, para enfeitar o seu lugar secreto com o electrum que ele (Osíris) fez a Minha Majestade trazer de Taseti17 em vitória e no triunfo. Você fará isso com sucesso para fazer algo que [agrada] meu pai Osíris, Minha Majestade lhe manda confiante de que você vai fazer de tudo para inspirar a confiança de Minha Majestade, desde que você tem sido criado como um pupilo da Minha Majestade, e tornara-se uma criança da minha majestade, único pupilo do meu palácio. [...] Vá e volte quando você tiver feito tudo que a Minha Majestade ordenou! 18 15
Cerca de 1868 a. C. Estela feita de balsato erigida próximo ao grande templo de Osíris em Abídos. Corresponde à Thinis, a qual foi a capital das primeiras dinastias egípcias, localidade próxima a Abídos. 17 Taseti é um dos nomos da Núbia. 18 NEDERHOF, Mark-Jan. Stela of Ikhernofret. Disponível em: http://mjn.host.cs.standrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/IkhernofretStela.pdf. Acesso em: 07 de Setembro de 2014 às 23:48. Tradução livre do inglês. Linhas 4 – 12, 17. 16
52 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
No início da estela, Ikhernofret cita as preparações dos materiais para a procissão, de ordem administrativa ou litúrgica, que haviam sidos colocados pelo faraó sob a sua responsabilidade. Fiz tudo o que Sua Majestade havia ordenado, aperfeiçoando tudo o que o meu senhor tinha ordenado para seu pai Osíris, O Primeiro dos Ocidentais, Senhor de Abídos, Grande Poderoso, Residente em Tawer. Eu agi como o amado filho de Osíris19, O Primeiro dos Ocidentes. Eu adornei sua grande barca para toda a eternidade. Eu fiz para ele um santuário portátil, o “Suporte de Beleza”(?) do Primeiro dos Ocidentais, de ouro e prata, lápis lazuli, bronze, madeira-meru (?) e cedros de Líbano. Os deuses os quais atendem-no foram confeccionados20 e seus santuários foram refeitos. Eu ensinei o sacerdócio do templo para realizarem suas funções. Eu deixei-os saber o ritual de todos os dias e as festas das estações. Eu dirigi o trabalho na BarcaNeshmet e confeccionei a capela. Eu enfeitei o corpo do Senhor de Abídos com lapis lazuli e turquesa, electrum e cada pedra cara como decoração para os membros do deus. Eu vesti o deus com as suas regalias em virtude da minha função de iniciado, e de acordo com o meu dever de (wtb-)sacerdote. Eu tinha braços puros ao ornamentar o deus, um Sacerdote-Sem21 com dedos limpos.22
O festival de Osíris era divido em três fases de acordo com interpretação de Marie-Christine Lavier23: a procissão de Wepwawet24, em que a batalha simulada é promulgada durante a qual os inimigos de Osíris são derrotados. A procissão é liderada pelo deus Wepwawet. Eu conduzi a procissão de Wepwawet, quando ele passou a defender seu pai. Eu repeli aqueles que se rebelaram contra o Barca-Neshmet e eu derrubei os inimigos de Osíris. Eu conduzi a grande procissão e eu segui o deus em seus passos. 25
A grande procissão de Osíris: momento no qual Osíris morre e seu corpo é levado de seu templo para o seu túmulo em Peker. Eu deixei a barca divina, enquanto Thoth dirigiu a viagem. Eu equipei a barca “Verdadeiramente Ressuscitado é o Senhor de Abídos”26 com uma capela. Suas belas armas foram fixadas, ele seguiu para o distrito de Peqer, 19
Um cargo sacerdotal que consiste em servir a estátua do deus. Em outra tradução da Estela para o inglês, essa passagem significa “Eu confeccionei os deuses que pertenciam a sua Grande Enéada”. Disponível em: http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ikhernofret.htm. Acesso em: 07 de Setembro de 2014 às 20:48. Tradução livre do Inglês. 21 Sacerdote-Sem era o responsável pelos ritos finais de purificação do corpo nos funerais. 22 Op. Cit. 16. Tradução livre do inglês. Linhas 18 – 31. 23 LAVIER, Marie-Christine. Les Mystères d'Osiris à Abydos d'après les stèles du Moyen Empire et du Nouvel Empire. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1989. 24 “‘Aquele que abre os caminhos’, deus-chacal ou lobo de Assiut, ou Licópolis, no Médio Egipto, Upuaut [...] era representado com traços guerreiros e foi assimilado e identificado com Hórus, Khentiamentiu e, sobretudo, com Anupu. Em Abidos era o deus da necrópole. [...] guia a barca de Osíris, a Nechemet, quando da realização dos Mistérios de Osíris. Guia portanto, as almas mortas para o Reino Inferior, abrindo-lhes o Oeste, o Ocidente [...].” SALES, José das Candeias. As Divindades Egípcias: uma chave para a compreensão do Egipto Antigo. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. Pp. 152 – 153. 25 Op. Cit. 16. Tradução livre do inglês. Linhas 32 – 35. 26 Barca associada ao funeral do deus. 20
53 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
depois que eu tinha aberto o caminho para o deus ao seu túmulo ao sul de Peqer.27
Osíris é pranteado e os inimigos da terra são destruídos simulando a Batalha de Nedyt na qual Osíris é vingado. Orações e recitações são feitas e ritos fúnebres realizados. Osíris renasce ao amanhecer. Uma estátua de Osíris é levada ao templo. Eu defendi Wenennefer28 nesse dia do grande combate, e eu derrubei todos os seus inimigos sobre os bancos de areia do Nedit. Eu o deixe prosseguir para a barca, que deu à luz a Sua Beleza. Eu alegrei o coração dos desertos do leste e eu [induzi] [aplausos] nos desertos ocidentais, quando eles viram a beleza do Barca-Neshmet, depois de ter desembarcado em Abídos e trouxe [Osiris, O Primeiro dos Ocidentais, Senhor] de Abídos, para o seu palácio. Depois que eu prossegui com o deus para sua casa, sua purificação foi feita e seu lugar foi feito espaçoso. Desatei o nó [...] [...] com seus cortesãos. 29
O tema principal da estela é um ciclo de vida, morte e renascimento e o festival traz em si elementos que relembram a origem mítica da realeza egípcia e que reafirmam a posição do faraó como força de equilíbrio do cosmos. Wepwawet, o qual possui atributos de Haredotes30 durante o festival, ao vencer os inimigos de Osíris rememorando os acontecimentos do Mito de Osíris, posiciona o faraó vivo como herdeiro legítimo da posição que ocupa.
27
Op. Cit. 16. Tradução livre do inglês. Linhas 35 – 38. É um dos epítetos de Osiris, que faz alusão ao poder post-mortem do deus. 29 Op. Cit. 16. Tradução livre do inglês. Linhas 39 – 46. . 30 “‘Hórus vingador/protector de seu pai’. Atingida a idade adulta, Hórus travou guerra com Set com o objetivo de vingar Osíris e de recuperar o trono do Egipto. Valorosos actos de bravura militar deram-lhe o título de Hornedjitef, ‘Hórus vingador de seu pai’. Era nesta forma de um deus guerreiro e chefe vitorioso que se cumpria o plano de Ísis e das outras formas de Hórus, enquanto filho de Ísis e Osíris. Após oito anos de lutas, o Tribunal Divino pronunciou-se favoravelmente em relação às pretensões de Hórus e a herança foi-lhe concedida e ele declarado faraó dos dois Egiptos [...]. O seu reinado foi, naturalmente, o arquétipo para todos os faraós reinantes, quais ‘Hórus vivos’.”. SALES, José das Candeias. As Divindades Egípcias: uma chave para a compreensão do Egipto Antigo. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. Pp. 170. 28
54 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Pode-se dizer que o Festival de Osíris foi o primeiro acontecimento teatral em grande escala conhecido pelo homem: fora executado mais ou menos continuamente durante dois mil anos. Peregrinos vinham de todo o Egito para acompanharem a procissão e erigiam estelas em capelas votivas voltadas para a via em que ocorria (Figura 3) para que seus donos pudessem se beneficiar da festividade -. Um sítio de imensa importância é o Cemitério do Norte – “Terraço do Grande Deus” -, escavado por Auguste Mariette31, da onde é dita a proveniência da maioria das capelas. A presença desses peregrinos é de imensa importância para a efetivação do que se entende aqui ser o objetivo do festival.
Figura 3. Planta Arqueológica de Abídos. Via processional (em vermelho pontilhado) do Festival de Osíris e Cemitério do Norte (friso meu).
31
Auguste Mariette (1821 – 1881) foi um arqueólogo francês responsável por uma massiva escavação em todo o Egito.
55 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 4. Reconstrução de Capelas Votivas. “Terrace of the Great God.”. Disponível em: RICHARDS, 2005. p. 40.
Algumas estelas privadas eram colocadas em pequenas capelas votivas e não nos próprios túmulos dos proprietários. Tais estelas são personalizadas e sua iconografia quase sempre mostra o proprietário da estela sentado diante de uma mesa de oferendas, há também membros de sua família evocando tais oferendas, combinada com textos que assinalam seus nomes e alguma oração. A estela de Senusret-Iunefer é muito exemplar, pois ele exerceu cargos na administração real sobre o reinado de Senusret III e Amenemhat III, assim como a sua família, hereditariamente, também compunha cargos nessa escala. Em sua capela votiva, proveniente do Cemitério do Norte, existiam três estelas, uma compõe o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro (Rio Inv 627), a segunda está no Museu Egípcio no Cairo (Cairo CGC 20296) e a terceira está perdida. No topo da estela Inv 627, está inscrito o prenome real do faraó com o seguinte texto posterior: Senusret III, amado dos deuses Osíris e Uepuauet: Bom deus Khakaura, amado de Osíris, Chefe dos Ocidentais, grande deus, Senhor de Abidos, que vos sejam dadas toda vida, estabilidade e prosperidade; amado de Uepuauet, Senhor do Território Sagrado, que vos sejam dadas toda vida, estabilidade e prosperidade para sempre.Oferenda que o rei faz a Uepuauet, Senhor do Território Sagrado, para que ele conceda um bom enterro na necrópole do Ocidente, na paz profunda, na presença do grande deus – para a alma de Senuosret-Iunefer, nascido de Sit-uoser, e venerável. Oferenda que o rei faz a Osíris, Chefe dos Ocidentais, grande deus, Senhor de Abidos, para que faça oferendas de invocação, de pães e cerveja, bois e gansos, (vasos de) alabastro, e roupas, incenso e unguento – sendo isto o que deu Uepuauet, Senhor de Vida, Chefe dos Ocidentais – para a alma de Iunefer. Oh vós, que viveis na terra, voz que passais perto desta capela do Superintendente do Armazém, Iunefer – cada leitor, cada servidor de Deus, cada sacerdote, cada escriba, cada pessoa – se amais Uepuauet, vosso deus, doce de amor, assim possais dizer: ‘Oferenda que o rei faz, aos milhares: pão e cerveja, bois e gansos, (vasos de) alabastro e roupa, incenso e unguento, para a alma do Superintendente do Armazém, Senuosret-Iunefer, nascido de Sit-uoser e venerável’ – se desejais permanecer na terra em vossas funções
56 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
sob o Rei, e para que vos tragam oferendas sagradas do altar do Chefe dos Ocidentais; mas não sejais negligentes!32
Além do texto citado, há também, na mesma estela, o nome dos familiares de Senusret-Iunefer. A importância de erigir uma capela composta por uma ou mais estelas é que o ka do indivíduo poderia compartilhar eternamente as oferendas a Osíris durante cada ano de suas festividades, além de cumprir um papel social ao demarcar seu status na corte real como um homem de posses, sendo assim, reconhecido pelos vivos. Considerando-se o poder como uma relação, e não como algo que se exerce unilateralmente, a ação ritual é poder, mais do que simples instrumento de poder e controle. Uma das funções que exerce é, sem dúvida, legitimar a hierarquia social, com suas diferenças e privilégios. Sendo o poder uma relação, o poder que se exerce num ritual tanto pode, eventualmente, ser fator de conformidade (talvez mais frequente) quanto de mudança social. O funcionamento de um sistema ritual exige a presença de elementos de constrangimento, mas também de possibilidades, abertura, pelo menos relativa e negociação, para que sua eficácia possa se manifestar. 33
A ação ritual é poder, e poder simbólico é “o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo.” (BOURDIEU, 1989, p. 14). Ou seja, é a criação e manutenção de símbolos e sinais que exprimem uma mensagem de poder. Nas festividades, há a divulgação de mensagens, símbolos que auxiliam na manutenção da ordem e a efetiva presença de setores reais e não reais em Abídos durante as festividades dedicadas a Osíris, significa que houve receptividade da mensagem passada.
4. Considerações Parciais Como pôde ser visto a partir desta breve descrição, a manutenção do status divino do rei foi de grande importância na ideologia real do Egito Antigo. Para não perder o status de divindade, o faraó participava de numerosos rituais destinados à reforçar a sua divindade e a sua relação com o ka real ao longo do tempo. A divindade do faraó e a manutenção do cosmos eram essenciais para o equilíbrio do Egito. Se o desequilíbrio por ventura surgisse, como de fato ocorreu, todos os tipos de calamidades poderiam ser esperadas. Após o Primeiro Período Intermediário, tais situações de medo de uma nova instabilidade viriam à tona. É possível afirmar, a partir 32
KITCHEN, Renneth Anderson. Catálogo da Coleção do Egito, Volume I. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1990. 33 CARDOSO, Ciro Flamarion. Os festivais como encenação da sociedade. Phoinix, Ano 18, v. 18, n. 1. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.
57 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
dos dados apresentados, que o Festival de Osíris cumpre papel de legitimação da monarquia faraônica e da hierarquia social vigente, visto que era de vital importância para a ideologia estatal.
FONTES KITCHEN, Renneth Anderson. Catálogo da Coleção do Egito, Volume I. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1990 NEDERHOF, Mark-Jan. Stela of Ikhernofret. Disponível em: http://mjn.host.cs.standrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/IkhernofretStela.pdf. Acesso em: 07 de Setembro de 2014 às 23:48.
BIBLIOGRAFIA BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difusão Editorial, 1989. BALANDIER, Georges. O Poder em Cena. Brasília: Editora UnB, 1982. CARDOSO, Ciro Flamarion. Os festivais como encenação da sociedade. Phoinix, Ano 18, v. 18, n. 1. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. DAVID, Rosalie. Religião e Magia no Egito Antigo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. GRAJETZKI, Wolfram. The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology And Society. London: Duckworth, 2006 _____________. Court Officials of the Egyptian Middle Kingdom. Londres: Bloomsbury, Publishing Plc, 2012. GRIFFITHS, John Gwyn. The Origins of Osiris and his cult. Leiden: Brill, 1980. JOÃO, Maria Thereza David. Dos Textos das Pirâmides aos Textos dos Sarcófagos: considerações sobre a democratização da imortalidade no Egito antigo. Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2008. LAVIER, Marie-Christine. Les Mystères d'Osiris à Abydos d'après les stèles du Moyen Empire et du Nouvel Empire. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1989. SALES, José das Candeias. As Divindades Egípcias: uma chave para a compreensão do Egipto Antigo. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. RICHARDS, Janet. Society and Death in Ancient Egypt: Mortuary Landscapes of the Middle Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 58 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
SHAW, Ian, ed. The Oxford history of ancient Egypt. New York: Oxford University Press, 2000. SIMPSON, William Kelly. The terrace of the Great God at Abydos: The offering chapels of dynasties 12 and 13. New Haven: Philadelphia Yale University, 1974. WEGNER, Josef. The Mortuary Complex of Senwosret III: A study of Middle Kingdom state activity and the cult of Osiris at Abydos. 1996, Tese (Doutorado em Filosofia) University of Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos, 1996.
Artigo recebido em: 10 de Setembro de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
59 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
CONDE DE NASSAU, O ENGENHEIRO DE TRAMOYAS: O SIMBÓLICO E O IMAGINÁRIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 1640. ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA RESUMO A problemática desta pesquisa encontra-se localizada no paradoxo de que, embora tenha sido a gestão nassoviana uma administração de um elemento invasor, exógeno e imposto, a mesma é tomada como um padrão positivo de referência administrativa, tanto na sua época (1637 – 1644), quanto ainda contemporaneamente, principalmente em Pernambuco. Este fato se explica por Nassau ter empreendido a sua legitimação não através da imposição coercitiva, mas sim como fruto do diálogo, visando à mobilização da população da Nova Holanda à adesão ao governo. Para pôr em ação tal empreendimento nada simplório, sua gestão foi engendrada sob a ótica de uma teatrocracia, conceito de Georges Balandier acerca do governo que controla o real através do imaginário, sobretudo a partir da criação de uma representação ficcional da aparência do governante perante seus governados. Tal afirmativa é exitosamente comprovada analisando, pormenorizadamente, o episódio da assembleia legislativa, convocada em 1640, enquanto uma exímia utilização do imaginário social para fins de aquisição de poder simbólico. Com a realização desta – considerada pela historiografia atual como a primeira assembleia legislativa não só do país, como de toda a América do Sul –, o Conde de Nassau acaba por conquistar os corações e mentes da população e, por conseguinte, o reconhecimento simbólico de sua legitimação como porta-voz dos mesmos, recriando a realidade, outrora hostil e imposta. PALAVRAS-CHAVE: Conde de Nassau; assembleia legislativa de 1640; imaginário social.
ABSTRACT The problematics of this research lies in the paradox that, although nassovian management was an administration of an invader, exogenous element, it is taken as a positive standard administrative reference, both in his time (1637 - 1644 ), as well as contemporaneously, especially in Pernambuco. This fact is explained by Nassau have undertaken their legitimacy not through coercive imposition, but rather as the result of the dialogue, aimed at mobilizing the population of New Holland to join the government. To put into action such nothing simpleton venture, its management was engendered from the perspective of a theatercracy concept of Georges Balandier about the government that controls the real through the imaginary, especially after the creation of a fictional representation of the appearance of the ruler to his governed. Such statement is successfully proven by analyzing in detail the episode of the legislative assembly, convened in 1640, while an accomplished use of social imagery for the purpose of acquisition of symbolic power. In conducting this - considered by current historiography as the first legislative assembly not only in the country, but in whole South America -, Count of Nassau ultimately wins the hearts and the minds of the population and therefore the symbolic recognition its legitimacy as spokesman thereof, recreating reality, once hostile and enforced. KEYWORDS: Count of Nassau; legislative assembly of 1640; social imaginary.
***
Mestrando pelo Programa de Pós–Graduação em História Política, na linha de pesquisa Política e Cultura, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Contato: andre.uerj2008@yahoo.com.br
60 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
1. Introdução Cimento Nassau. Edifício habitacional Maurício de Nassau. Edifício empresarial Nassau. Avenida Maurício de Nassau. Ponte Maurício de Nassau. Rádio Web Nassau. Teatro Maurício de Nassau. Escola Municipal Maurício de Nassau. Centro Universitário Maurício de Nassau. Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau. No parágrafo anterior, podemos encontrar exatamente dez elementos da vida cotidiana urbana do Recife contemporâneo que prestam homenagem ao antigo governador da Nova Holanda, dando sua nomenclatura às suas marcas. Tal desígnio não é algo banal, de remota importância. Em contraposição, sob tal processo corriqueiro e cotidiano está o prestígio memorial ainda atual do Conde, tornando-se um verdadeiro monumento histórico para a região. Tal atribuição de homenagens afetuosas e de um reconhecimento de seu valor histórico não é apenas um processo da contemporaneidade. Em setembro de 1640, um ano antes do contrato da administração nassoviana se findar – ele, inicialmente, governaria apenas por cinco anos –, diversos representantes escabinos começaram a escrever missivas aos Estados Gerais, reivindicando a permanência do Conde. Vários são os interessantes elementos que delas podem ser retirados em relação à atribuição de valor da população por seu governante: “(...) se ele se ausenta deste Estado muito em breve se há de tornar a aniquilar tudo que com sua presença floresceu e se alcançou (...)”1; “(...) embarcar [Nassau] é o mesmo que mandar-nos embarcar a todos (...) à sua presença e governo devemos nossas vidas e tudo o que possuímos (...) é voz comum e geral que no dia que sair ele (...) há-de principiar a ruína (...)”2; “(...) a quem desejamos por nosso governador de propriedade (...)”3. Por fim, suas solicitações surtiram efeito: Maurício de Nassau permanecia à frente da Nova Holanda. Todavia, se em 1640 e 1641 tiveram êxito, nada puderam fazer, em 1644, para impedir o regresso do mesmo aos Países Baixos, retirado do cargo de governante pela Companhia das Índias Ocidentais. Apesar disso, igualmente não faltaram demonstrações de carinho. Temos informações desta afetuosa despedida a partir do cronista batavo Gaspar 1
MELLO, José Antônio Gonsalves de. Fontes para a História do Brasil Holandês: a administração da conquista. Volume 2. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Fundação Nacional Pró-Memória, 1985, p. 387. 2 Ibid., p. 387–388. 3 Ibid., p. 388.
61 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Barlaeus, citado pelo historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello. No adeus ao Conde, havia uma “(...) turba de pobres, de ricos, de velhos e de jovens (...), era sem distinção o abatimento de todas as fisionomias, de grandes e de pequenos, de homens ou mulheres”4. Todos estes “(...) tomaram-no sobre os ombros, conduziram-no carregado desde a praia (...). Julgavam, com efeito, altíssimo dever e honra levar nas costas a quem nas suas levara, tanto tempo, o destino e a salvação de todos”5. Assim, acabaram “(...) manifestando-lhe, com lágrimas e aclamações, a sua simpatia. (...) uns lhe desejavam felicidade, chamando-lhe pai, outros chamando-lhe senhor e protetor. (...) clamavam ter caído o Brasil e já não restar esperança (...)”6. Todavia, tais demonstrações de afeto parecem não condizer com o fato do governo de Nassau ser uma administração de um elemento invasor, exógeno e imposto ali. Tal problemática torna-se ainda mais complexa ao nos darmos conta de que é o Conde de Nassau o único destes elementos de quem não só lembramos até hoje, quanto, sobretudo, cultuamos a sua preservação memorial. É fato mais do que comprovado de que não conseguimos nos recordar do nome de nenhum outro estrangeiro colonizador, seja holandês ou francês: é apenas o nome de João Maurício de Nassau que nos vem à mente. Assim sendo, cabe analisar como se deu os moldes desta governabilidade, buscando alcançar, deste modo, as motivações tanto de tal afeto da população da Nova Holanda, quanto da permanente e ainda contemporânea transformação de seu legado em monumento histórico de Pernambuco.
2. O governo nassoviano e sua utilização do poder simbólico
De acordo com a dissertação de Heloisa Meirelles Gesteira, docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO), as colonizações da Época Moderna foram concretizadas com base na construção de uma relação de identidade dialógica entre colonizador e colonizado. 4
MELLO, Evaldo Cabral de. Nassau – Governador do Brasil Holandês. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 201. 5 Ibid., p. 202. 6 Ibid., p. 201.
62 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Todavia, por ser um novo colonizador, havendo uma profunda diferença cultural, esta conexão identitária é quebrada e inexistente na gestão da Nova Holanda, sendo colocada em questão. Assim sendo, há a necessidade indispensável da nova administração em refazer este pacto colonial, esta conquista imaterial da população. A gestão nassoviana se dá em uma fase posterior à etapa bélica, em um momento de estabilidade após a conquista ser garantida fundamentalmente pelas armas. Por conseguinte, houve a crucial necessidade do Conde de Nassau se impor aos lusobrasileiros de outra forma: a dominação pelo ato de impressionar, imprimindo uma relação de afeto. De tal forma, o conceito de representação que aqui lançar-se-á mão é a acepção que a teoria do simbólico lhe oferece: a semântica da “objetivação, figurada ou simbólica, de algo ausente”7 ou, melhor explicando, “fazendo presente alguma coisa ausente, isto é, re-apresentar como presente algo que não é diretamente dado aos sentidos”8. O que justamente fazia-se oculto perante os sentidos e sentimentos da população era a supradita identidade dialógica e, por conseguinte, a legitimação do poder nassoviano. Nas palavras do historiador polonês Branislaw Baczko, Nassau obedece à lógica de que “(...) todo o poder tem de se impor não só como poderoso, mas também como legítimo”9. Por conta disso, apresenta-se como de suma importância a utilização de conceitos da contribuição teórica do poder simbólico, de Pierre Bordieu, enquanto ferramenta analítica deste empreendimento nassoviano, o que será feito nos próximos parágrafos. Com os objetivos de inculcar valores e submeter novas hierarquias à população desta parte setentrional do Brasil, pode-se encontrar, embutido nas realizações dos sete anos de governo nassoviano, a busca pela profunda mobilização de corações e mentes dos seus governados, movendo suas vontades e emoções a seu favor. Tal reivindicação se dá sob os moldes de um rebuscado jogo político, utilizando técnicas de ação previamente arquitetadas. Tendo êxito na sua inculcação de valores e mobilização das sensibilidades, como 7
FALCON, Francisco Calazans. História e representação. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (Orgs). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. 1 ª Edição. São Paulo: Papirus, 2000, p. 45. 8 Ibid., p. 46. 9 BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmundo et al. (Orgs). Anthropos-homem. 1ª Edição. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 310.
63 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
de fato teve – conforme foi atestado na parte introdutória –, Nassau acaba por empreender uma tarefa que não é, de modo algum, banal e simplória: a instituição de uma legitimidade para seu governo, não imposta, de cima para baixo, mas sim, pelo contrário, reconhecida e ofertada, de forma espontânea, pelos seus governados. A motivação desta espontaneidade acontece pelo fato de que, este processo de busca da mobilização, quando bem-sucedido, acaba por culminar na criação de um profundo e exacerbado sentimento de crença da população no seu governante. De tal forma, crendo indiscutivelmente na legitimidade e na qualidade daquele que guia a gestão territorial, há, logo, a adesão da maioria a este jogo político governante–governados. Com este consentimento de aprovação e profundo ato de crer, é criada, então, a intrínseca relação de identidade entre estas duas esferas, a princípio antagônicas, sendo o ápice desta legitimação o reconhecimento do gestor – no caso, Nassau – como o concreto e autorizado porta-voz da população. Em outros termos, era como se despojasse de sua subjetividade governamental e carregasse, na sua alma, os valores e as reivindicações da população – em um processo metonímico da parte – o Conde – simbolizando o todo – seus governados. Tal legitimidade como porta-voz de toda uma população nada mais é do que o reconhecimento do jogo político colocado em ação como valendo a pena de ser jogado, em uma espécie de conluio e acordo não-verbal. Toda a análise dos últimos parágrafos sobre o poder simbólico empreendido pelo Conde João Maurício de Nassau foi feita à luz teórica do sociólogo francês Pierre Bordieu. Todavia, não poderia se esquecer de incrementar nesta interpretação analítica o seu principal conceito: o de habitus. Ao contrário do caráter de manipulação, cuja semântica é redutora – ao colocar que não haveria margem de erro neste processo ou recusa daqueles que recebem tal representação simbólica –, há de se trabalhar este domínio através do suporte conceitual do habitus. Sua acepção, em contraposição àquela, é ativa, dando ao participante deste jogo político a liberdade de escolha – embora com certos limites de ação –, optando de acordo com sua própria razão prática e refletindo sobre o sentido concreto do reconhecimento ou não de tal representação. Com tal semântica do conceito de habitus, é percebido que, se a população criou um afeto e carinho pelo seu governante, tornando-o um dos seus monumentos históricos até hoje, é pelo fato daquela escolher, por conta própria e motivações práticas, aderir a 64 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
este, crendo e legitimando o mesmo – diferentemente de um processo simplório de imposição. Assim, como conseqüência do reconhecimento deste habitus, o jogo político – ou, nos termos de Pierre Bordieu, o campo político, enquanto produtos e programas políticos em movimento – será alterado: torna-se baseado em um equilíbrio dialógico e não mais como era outrora, pautado em tensões e conflitos. Com tal dominação simbólica exitosa, o Conde de Nassau cria uma ficção social compartilhada, tal qual a implantada na Inglaterra medieval, com todo o imaginário embutido no misticismo político dos dois corpos do rei10. Esta ficção social inglesa, ao contrapor e supervalorizar o corpo político do rei – eterno – ao seu corpo natural – mortal –, acabava transmitindo à realeza uma essência de imortalidade, de intemporalidade perene. Esta representação ficcional faz com que, mesmo com a morte de um monarca – um rei –, a essência da realeza – o Rei – permaneça, transferindo seu corpo político para outro corpo natural, sem abalar as estruturas sociopolíticas. Com tal simbologia política, no momento em que esta monarquia, enquanto sistema político vigente, estivesse ameaçada, devido a uma má gestão ou negligência de um rei, este, de natureza temporária, seria combatido e retirado do cargo em favor do Rei – a Realeza –, de essência contínua. Assim como este simbolismo dos dois corpos do rei ou como o próprio conceito de democracia moderna, enquanto concepção da participação total e completa de todos os habitantes nas decisões políticas de um determinado território – o que se sabe ser uma construção ideológica –, o governo do Conde João Maurício de Nassau também criou uma ficção social. Esta, compartilhada pelos seus governados após mobilizar seus imaginários, deu-se com base em uma representação simbólica de sua política, gerando uma enraizada convicção na aparência que pretendia passar, com o intuito de sustentar a legitimidade do seu governo. Todavia, estas ficções sociais não podem ser vistas como antagônicas e excludentes do real. A natureza de tal empreendimento da representação ficcional dos dois corpos do rei não é a da irrealidade, da ilusão, do fantasmagórico, mas sim, pelo contrário, faz parte da essência do próprio monarca, sendo ela quem cria a sua realidade. Não se pode visualizar como antagônico ao real algo que correspondia à profunda
10
KANTOROWITCZ, Ernest Hartwig. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. Tradução de Cid Knipel Moreira. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 548 p.
65 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
impressão de realidade reconhecida por estes ingleses do medievo, uma vez que era este imaginário o que criava a concretude aclamada por esta população. Branislaw Baczko segue a mesma linha interpretativa. Este historiador polonês proclama a realidade dos imaginários: estes são mais concretos, reais, do que aquela própria. Assim sendo, há, de acordo com Jurandir Malerba, efetuando uma análise do conceito de habitus, a recusa aberta às concepções platônicas das representações, que as têm como mera projeção ou reflexo imaterial, imaginário, da própria realidade material. Sob esta discussão toda, o que está em questão é justamente o realismo – enquanto capacidade de acessar o real – como pressuposto filosófico: para a historiografia moderna, o fenômeno corresponde ao real e, portanto, pode ser plenamente elucidado, ao contrário de ser meramente um referente extra-discursivo, como acaba por se tornar na concepção de realidade histórica pós-moderna. De acordo com o historiador Francisco Calazans Falcon, os imaginários, sob a ótica do simbólico, constituem, então, a própria realidade. Encerrada esta discussão acerca da essência simbólica do governo nassoviano, cabe uma análise mais pormenorizadamente aplicada. Por tal motivação, cabe a exposição e elucidação analítica de um dos episódios mais conhecidos e representantes desta busca da mobilização da adesão e do imaginário da população: o da convocação da assembleia legislativa de 1640.
3. A primeira assembleia legislativa da América do Sul
No período de vinte e sete de agosto a quatro de setembro do ano de 1640, foi realizada, no território da Nova Holanda, uma assembleia legislativa, convocada pelo próprio João Maurício e o Alto Conselho, com os cinquenta e cinco representantes eleitos das capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, a fim de "decretarem estatutos e leis para que se governassem em paz e quietação"11. Não faltou pompa e circunstância: houve banquetes, sons de trombetas, bater de caixas militares, peças de artilharia salvando no mar e na terra, estridor de armas. Um evento de grande porte. Ademais, sob o visual de ser o primeiro parlamento a se reunir na América do Sul e o único por tão dilatado tempo, esta medida teve um grande impacto histórico por levar a dinamização de um aparente governo representativo, no qual os governantes 11
MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 313.
66 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ouviam, atenciosamente, todas as reclamações e proposições que os representantes de cada capitania faziam. Todavia, anterior à análise pormenorizada de tal evento histórico singular e inédito, cabe elucidar sobre a sua própria contextualização geradora. Na análise dos estudiosos da temática, a motivação que acarretou a estratégia de elaboração da assembleia baseou-se em um tripé de razões. A primeira destas – e, talvez, a primordial, a mais importante – era o intenso temor da governança batava, de acordo com José Antônio Gonsalves de Mello, em relação às possíveis represálias por parte do governo geral do Brasil português, na Bahia, principalmente após os próprios batavos incendiarem os engenhos do Recôncavo baiano alguns meses antes. Tropas comandadas por Charles Tourlon Jr., da guarda pessoal do Conde de Nassau, “incendiaram vinte e sete engenhos, deles retirando os seus cobres (tachos e maquinaria), escravos, açúcar e outros bens, pondo fogo nas povoações da ilha de Itaparica e passando a fio de espada todos os prisioneiros do sexo masculino”12. Sendo assim, apesar de toda a aparência de uma convocação de representantes dos governados para fins de elaboração de decisões que valeriam como leis, para serem “inviolavelmente observadas” e “imediatamente publicadas”, a intencionalidade real – contudo oculta – era a de que, em uma hipotética vingança aos incêndios, os batavos pudessem contar, no campo de batalha, com a adesão e apoio da própria população lusobrasileira local. Logo, apesar de todo o visual de reunião legislativa, o real propósito era a indução dos governados para o seu lado, ou seja, “visavam a atraí-los a uma colaboração militar contra os soldados do seu Rei”13. Tal motivação pode ser localizada através da averiguação do relatório dos membros do Alto e Secreto Conselho, apresentado no ano de 1646 ao Conselho dos XIX. Nesta fonte histórica, os três membros da administração afirmam que Para resguardar este Estado, (...) convocamos, no fim de agosto, uma assembleia geral ou dieta (...) para induzi-los àquilo, porque a defesa contra tal destruição e desastre em grande parte consistia na animação e inclinação dos habitantes portugueses em nosso favor, sem os quais nada podia ser feito. Para não mostrar-lhes tão claramente a nossa necessidade, outros assuntos foram incluídos na pauta (...).14
Somada a esta razão, a segunda motivação que acarretou a realização estratégica de uma assembleia dos representantes dos moradores, em agosto de 1640, interliga-se, 12
SILVA, Leonardo Dantas. Holandeses em Pernambuco: 1630-1654. 2ª Edição. Recife: Instituto Ricardo Brennand, Editora Caleidoscópio, 2011, p. 196. 13 MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 301. 14 Ibid., p. 271.
67 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
intrinsecamente, à derrota, em janeiro do mesmo ano, da esquadra naval do Conde da Torre, D. Fernando Mascarenhas, saindo os batavos vitoriosos. Na generale missive de treze de setembro de 1640, João Maurício, Hamel e Van der Burgh afirmam que, após esta importantíssima vitória naval, nos foi dada a esperança de que os moradores portugueses, percebendo o verdadeiro interesse que tínhamos pela sua propriedade e oferecendo-lhes toda a necessária assistência para que ela fosse mantida, sobretudo agora que toda a expectativa da armada espanhola se tinha desvanecido, haveria grande possibilidade de atraí-los a uma resolução em comum conosco, pois não viam à sua frente outro caminho para alcançar a posse pacífica dos seus bens e haveres.15
Por fim, em terceiro lugar, a estratégia da convocação da reunião de 1640 esteve diretamente proporcional à desordem e ao caos que reinava no interior do território. Tal panorama caótico se deve a dois diferentes conflitos com os moradores do interior: um de natureza exterior e o outro internamente à própria administração batava. Em relação àquele, deve-se à chamada guerra volante dos campanhistas: o interior sofria com os sucessivos ataques dos soldados do oficial luso-brasileiro Luís Barbalho Bezerra, os quais, na sua marcha cruzando os sertões em busca da Bahia, destruíam canaviais, assaltavam engenhos e arrebanhavam todo o gado, organizando-se sob uma estratégia tática de terra devastada. Considerando tudo à sua frente como inimigo – até mesmo os luso-brasileiros que haviam permanecido sob o comando dos invasores batavos –, pode-se definir tais ataques como “(...) uma marcha assassina. (...) Não se faziam mais prisioneiros (...). A crueldade não tinha limites: todas as plantações de cana foram queimadas e os prisioneiros portugueses eram entregues aos tapuias, que os matavam com requintados meios de tortura”16. Já quanto ao conflito situado no interior da própria administração batava, deviase às incontáveis queixas em relação aos abusos dos escoltetos. Estes possuíam o papel, dentro da administração da Nova Holanda, de fiscalizar os escabinos – órgão administrativo que será melhor elucidado na próxima página – e de exercer a função policial. No seu regimento, incumbia-lhes o papel de “prender os criminosos, promover a execução das sentenças, assistir à mesma execução, velar sobre a observância da
15
Ibid., p. 303. STRAATEN, Harald S. van der. Brasil: um destino. Tradução de Lace Medeiros Breyer. 1ª Edição. Brasília: Instituto Cultural Maurício de Nassau; Linha Gráfica Editora, 1998, p. 102. 16
68 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ordem e regulamentos civis, e fazer punir os transgressores”17, tendo, por tal fato, as atribuições de “Promotores de Justiça, Exatores da Fazenda e Chefes de Polícia em suas respectivas circunscrições”18. Devido a uma corrupção oficial e uma incompetência administativa, aproveitando-se do poder de seus encargos, vários destes escoltetos se apresentavam sem escrúpulos, prendendo e, sobretudo, extorquindo os moradores luso-brasileiros sob falsos pretextos, inventadas alegações, sendo, por tais razões, estes os funcionários mais odiados e, ao mesmo tempo, mais temidos de toda a administração da Nova Holanda. Ademais, para além dos abusos e transgressões dos escoltetos, também era crescente o número de ladrões domésticos – na maioria, soldados indisciplinados e desertores – no interior do território, os chamados salteadores. De acordo com relatos, "os soldados holandeses, cujos soldos e rações eram pagos geralmente com atraso, cometiam muitas vezes excessos, tais como a morte de um boi, com fim exclusivo de lhe comer a língua"19. Com toda esta desordem no interior, o Conde de Nassau e o Alto e Secreto Conselho articulou a estratégia pragmática da assembleia de 1640, uma vez que, para eles, “sem a colaboração dos portugueses, os assaltos no interior do país não podem ser reprimidos”20. Por conta de todo este supramencionado tripé de motivações, foi, então, realizada a dita reunião legislativa, na residência nassoviana em Antônio Vaz 21, durando nove dias – de vinte e sete de agosto a quatro de setembro do ano de 1640 –, participando cinquenta e seis representantes luso-brasileiros, dos quais dezenove eram senhores de engenho, treze eram os lavradores de cana e vinte e quatro tinham como meio de trabalho o comércio ou ocupações indefinidas. Logo, de acordo com a análise de José Antônio Gonsalves de Mello, a maioria era, pois, constituída de pessoas ligadas à “açucarocracia nordestina”22. A maioria destes representantes dos moradores eram escabinos eleitos das capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Assim sendo, anteriormente ao 17
MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 31. WATJEN, Hermann. O Dominio Colonial Hollandez no Brasil: um capitulo da historia colonial do seculo XVII. Tradução de Pedro Celso Uchoa Cavalcanti. 1ª Edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938, p. 305. 19 BOXER, Charles Ralph. Os holandeses no Brasil: 1624 – 1654. Tradução de Olivério Mário. de Oliveira Pinto. 2ª Edição. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2004, p. 167. 20 MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 303. 21 Uma vez que, nesta época, ainda não havia sido edificado o palácio Vrijburg (Friburgo). 22 MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 305. 18
69 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
processo de elucidar melhor sobre a assembleia em si e o que deliberou o governo com esta, apresenta-se como de suma essencialidade o esclarecimento do modo em que estava baseada esta estrutura administrativa do escabinato, bem como a forma que os escabinos eram escolhidos. Espécie de câmaras municipais criadas pelos batavos na administração da Nova Holanda, tal sistema do escabinato apresentava um triplo processo eletivo para a escolha de seus representantes, como bem esclarece Rômulo Luiz Xavier do Nascimento. Inicialmente, o Conselho Político, órgão da administração batava, escolhia de vinte a trinta civis de cada capitania para desempenharem, de forma perpétua, a função de eleitores. Tais eleitores votavam e emitiam uma lista de possíveis representantes, enviando para a administração superior, que escolhia uma parte destas indicações para desempenhar, finalmente, a função de escabino. Por exemplo: um mês após o comunicado da implantação das Câmaras de Escabinos, em início de agosto de 1637, chega da Paraíba, através de uma missiva de Elias Herckmans, uma lista de eleitores, bem como os nomes de quinze pessoas escolhidas pelos mesmos para serem indicadas à função de escabinos. Prontamente, Nassau e o Alto Conselho nomearam cinco deles. 23
Com tal elucidação, fica claro que, antes mesmo da convocação da assembleia, já temos a arbitrariedade batava na composição do escabinato, pois era da administração superior a última palavra, o processo final de escolha, através de um posicionamento conversador e que nada tinha a ver com as fictícias aparências de governo representativo que a assembleia de 1640 poderia transmitir. Sendo assim, apesar da impressão da admissão inicial no processo eletivo de luso-brasileiros para compor os escabinatos, esta estratégia não passava de uma artimanha de atitude política: colocando a primeira etapa da escolha dos escabinos ao cargo deles, ficava a equivocada sensação de sua participação nas deliberações do governo e, assim, evitava-se um possível confronto e rebelião dos mesmos. Retornando ao detalhadamento específico da própria assembleia24, nas atas desta reunião verifica-se que o governo apresentou cinco medidas de governabilidade, as quais os habitantes deveriam acatar como conduta legal a partir de então, e, em seguida, 23
NASCIMENTO, Rômulo Luiz Xavier do. Pelo lucro da companhia: aspectos da administração do Brasil Holandês. Dissertação de Mestrado, História, CFCH, Universidade Federal de Pernambuco, 2004, p. 117. 24 Ao fim desta, ficou-se estipulado que todos os anos iam se realizar medidas iguais – o que acabou por não se consolidar.
70 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
este ouviu, atenciosamente, todas as reclamações e proposições que os representantes de cada capitania fizeram. Desta forma, buscava-se auscultar os representantes dos moradores das mais diferentes vilas e freguesias, conquistando, assim, as simpatias da população rural e uma possível aliança com os senhores de engenho, responsáveis pela produção açucareira e principais vítimas daquela guerra volante dos campanhistas. 25
Em seu discurso de abertura, de acordo com as informações do renomado historiador britânico Charles Ralph Boxer, o Conde de Nassau afirmou que (...) a vitória de 1640, obtida “sem dano para o povo”, havia trazido a paz para Pernambuco. Mas, a despeito de tudo, continuava a colônia inquinada por “muitos abusos, costumes contra a natureza, insolências opressivas, assaltos de ladrões, mau comportamento da soldadesca e desobediência por parte dos moradores” (...). João Maurício chegou a dizer que ele e os seus conselheiros, pelo contrário, desejam ardentemente mostrar a sua boa vontade para com os portugueses. Por esse motivo é que haviam convocado esta assembleia de influentes notabilidades com o fito de discutir os agravos existentes “e acudir com os remédios mais eficazes, de acordo com a sua aprovação e desejo”.26
Para solucionar tais preocupações – que, conforme já abordado aqui anteriormente, foram as motivações que originaram a convocação desta assembleia por parte do governo da Nova Holanda –, medidas legais foram apresentadas por Nassau nesta reunião para os representantes das capitanias: “restituir-se-iam aos moradores as armas que lhes tinham sido confiscadas no tempo da armada do Conde da Torre, a fim de que eles pudessem defender a si e as suas lavouras contra os assaltos dos bandoleiros, dos soldados desertores e dos escravos revoltados”, firmando-se que “as guarnições holandesas e os donos das fazendas se auxiliassem mutuamente no combate aos salteadores”27, além de instituição de patrulhas permanentes, com a tarefa de coibir a opressão dos seus próprios soldados aos lavradores. Em relação a este episódio da assembleia, os estudiosos do período nassoviano vêem, neste evento histórico, um fiel representante do seu agir político conciliatório e da apresentação de sua gestão enquanto um governo representativo, na análise de Charles Ralph Boxer. Esta reunião legislativa é vista como uma espécie de engodo, de uma artimanha da política da boa vizinhança, conforme visualiza José Antônio Gonsalves de Mello, tendo o próprio Nassau dito que “desejavam, ardentemente,
25
SILVA, Leonardo Dantas. Op. cit., p. 197. BOXER. Op. cit., p. 166–167. 27 Ibid., p. 167. 26
71 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
mostrar a sua boa vontade para com os portugueses”28. Era uma espécie de política do “ouça todo mundo e conclua a seu favor”. 29
4. Analisando, teórica e analiticamente, a assembleia de 1640
Toda a anterior análise do evento histórico singular da assembleia legislativa de 1640 – a primeira de toda a América do Sul, vale repetir – parece ir em cheio de encontro à análise que Ricardo José de Lima e Silva, pesquisador da Universidade de Pernambuco (UPE), faz acerca da figura administrativa do próprio Conde de Nassau. Na sua dissertação, ele pauta a elaboração, pelo Conde, de um agir comunicativo que permitisse a governança com os propósitos comerciais da Companhia das Índias Ocidentais. Tal gestão, para ser exitosa e eficiente, necessitava fomentar os ânimos do povo para a tranquilidade da Nova Holanda. Ao contrário da soberania imposta de cima, João Maurício teria sido bem-sucedido devido ao fato de lidar a partir da ótica de um jogo social, no qual cada participante – e, sobretudo, o governante – não joga por si mesmo, independente da ação do outro, mas sim empreende sua ação em interação com este. Por conseguinte, Ricardo José Lima e Silva analisa sua estratégia de gestão à luz dos preceitos da teoria administrativa. O referido governante deteve êxito na sua gestão ao buscar a superação do tradicional dilema organizacional. Este dilema pode ser colocado em alguns pares conflitantes: movimento da hegemonia (dominantes) versus movimento da contra-hegemonia (dominados); eficiência (manutenção da reprodução do capital) versus felicidade (satisfação aos anseios da população); racionalidade instrumental (recursos e poderes) versus racionalidade substantiva (a quem cabia administrar); sujeito versus objeto. Ao invés da força e da imposição de sua autoridade, o Conde João Maurício se utilizou da busca da legitimação pelo consenso, equilibrando e fazendo dialogar entre si os mencionados pares, outrora conflitantes, do dilema organizacional. Enquanto governante de um território invadido, em tensão beligerante e complexo socialmente, há o emprego da metodologia da cooperação, ao invés de buscar o confronto –
28 29
BOXER. Op. cit., p. 166. SILVA, Leonardo Dantas. Op. cit., p. 197.
72 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
apresentando uma intrínseca similitude com o próprio pensamento maquiavélico no que se refere ao insucesso do soberano que é odiado pelo seu povo. Todavia, esta cooperação igualmente seria combinada com uma certa dose de rigor, empreendendo a conciliação teleológica na medida exata: satisfazer ao povo, mas sem desesperar aos poderosos ou governar para os poderosos, porém sem ser odiado pelo povo. Assim sendo, Nassau conseguia, ao mesmo tempo, atender tanto os interesses comerciais da Companhia das Índias Ocidentais, a qual o colocou no posto de governador geral da Nova Holanda, quanto as reivindicações e as vozes da população, gerando, assim, as condições favoráveis de governabilidade territorial. É, neste esquema semântico, que deve ser analisado o evento histórico da assembleia de 1640. Nassau contempla o par do ultrapassado dilema organizacional, outrora antagônico: visava à eficiência – manutenção da governabilidade e da ordem territorial, cumprimento dos objetivos governamentais, etc. –, mas sabia que, para a efetivação disto, necessitava, igualmente, visar à felicidade – enquanto atendimento às demandas de seus governados, os quais, satisfeitos, legitimariam seu poder à frente da Nova Holanda. No seu Testamento Político – documento histórico este de incomensurável riqueza, uma vez que Nassau, escrevendo para os futuros e novos administradores da Nova Holanda, anuncia que “nada foi dito aqui que eu mesmo não tenha posto em prática”30 – o próprio Conde alerta para o extremo perigo do descontentamento e indisposição do povo. Tais sentimentos na população, caso surgissem, não só colocaria abaixo a busca da adesão de seus governados à sua gestão, prejudicando a sua legitimidade na posição de governador da Nova Holanda, como também – e, sobretudo – colocaria a população contra o mesmo, o que era tido, por ele, como de categórico temor. De acordo com suas instruções, considerava que o povo "é um rebanho de carneiros que se tosquiam, mas quando a tosquia atinge a carne produz infalivelmente dor; e como esses carneiros têm discernimento muitas vezes se convertem em animais temíveis" 31.
Assim, mesmo que o propósito real e primordial da realização da convocação da assembleia legislativa estivesse nas motivações já aqui abordadas anteriormente – temor de revanchismo do Brasil português, combate aos assaltos de ladrões domésticos e ao abuso dos escoltetos no interior, além de aproximar a população após a vitória sobre o Conde da Torre –, João Maurício sabia que se apresentava como imprescindível auscultar os interesses da população em troca, ao invés de baixar um decreto legal, de forma autoritária e sem diálogo.
30 31
MELLO, José Antônio Gonsalves. Op. cit., p. 391. Ibid., p. 402.
73 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Pode-se fazer uma conexão desta perspicácia astuta nassoviana com a contribuição teórica do sociólogo francês Pierre Bordieu quanto às tomadas de posição: “o político avisado é o que consegue dominar praticamente o sentido objetivo e o efeito social das suas tomadas de posição graças ao domínio que ele possui do espaço das tomadas de posição atual e, sobretudo, potenciais”32. Ao preferir a tomada de posição de auscultar a população – pelo menos no papel – ao invés de governar de cima para baixo, Nassau visa à mobilização das vontades e das emoções do povo, criando uma relação identitária em direção à legitimação do seu governo, conforme já mencionado. Com esta relação identitária criada, há o aparecimento de uma intrínseca confiança no poder, a qual só existe pelo fato de que, na análise do mesmo Pierre Bordieu, aquele, que a este poder está sujeito, crê que ele exista. É, nesta própria confiança que um grupo põe no homem político, o lugar de onde o mesmo retira a sua força política – no caso da assembleia, a confiança do governo em representá-los, ao se preocupar, ao menos na teoria, com suas reivindicações. É, nas ilusões que uma época pode alimentar a respeito de si mesma, que ela manifesta e esconde, ao mesmo tempo, a sua verdade – ou seja, justamente a dicotomia entre o governo ser o fiel representante da população (a ilusão) e a busca do atendimento aos interesses governamentais de ordem, legitimação e governabilidade (a sua verdade). Para isso, uma das principais e bem-sucedidas técnicas de ação eram justamente as cerimônias e entretenimentos públicos. Sobre estas e suas utilizações enquanto atitudes técnico-instrumentais – conforme aborda Bronislaw Baczko – para o domínio do poder simbólico, quem exitosamente expressa é Giovanni Botero, citado por Rosário Villari: como o Povo é por natureza instável e desejoso de novidade, acontece que, se não é contido de várias formas pelo seu Príncipe, procura essa novidade por si mesmo, mudando o Estado e o governo; por isso, todos os Príncipes avisados introduziram alguns entretenimentos populares, que, quanto mais servirem para se exercer a vontade do espírito e do corpo, mais adequadamente serão (...).33
Embora não seja um entretenimento popular, a assembleia de 1640 pode ser vista nesta semântica de “exercer a vontade do espírito e do corpo” pelo fato de que, além de ser uma novidade – a primeira de toda a América do Sul –, atendia às
32
BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1989, p. 172. 33 VILLARI, Rosário. O Rebelde. In: Idem. O Homem Barroco. Tradução de Maria Jorge Villar de Figueiredo. 1ª Edição. Lisboa: Presença, 1995, p. 98.
74 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
reivindicações populares esquecidas, criando um sentimento na população de que o governo efetivamente os representava. Quanto a esse papel do interesse e desejo popular pela novidade, quem aborda exitosamente é José Antônio Maravall. O historiador espanhol frisa a importância que o novo, o original, o caprichoso, o estranho, o extravagante possuem, tendo “uma acepção de elevado valor positivo” e sendo um “fenômeno comum a amplos setores do século XVII europeu”34. Nesta conjuntura, há, então, esse interesse pelo nunca antes visto, pela estreia de uma invenção, pelo emprego do extraordinário. Assim sendo, em suma, de acordo com seus estudos, O obscuro e o difícil, o novo e o desconhecido, o raro e extravagante, o exótico, tudo isso entra como recurso eficaz na perspectiva barroca, que se propõe a mover as vontades, deixando-as em suspenso, provocando admiração e paixão por aquilo que antes não haviam visto. (...) alguma invenção, um mecanismo engenhoso, um artefato inusitado (...) admiráveis serão os efeitos que com eles se obtêm. 35
Todos os argumentos analíticos deste subcapítulo estão associados ao domínio do imaginário social, do qual o historiador polonês Bronislaw Baczko é um dos principais expoentes teóricos. Se, ao passo que o governo Nassau, enquanto um elemento imposto à população da parte setentrional do Brasil, de fora para dentro, tem de produzir imagens e ideias favoráveis a seu governo, convocando a adesão do coração e das mentes do povo, é justamente o imaginário quem cumprirá o papel de lugar estratégico, instrumentalizando esta dominação simbólica. “Peça efetiva e eficaz do dispositivo de controle da vida e, em especial, do exercício da autoridade e do poder”36, tal qual o intelectual em questão o define, é a utilização do imaginário social que estará em cena em inúmeros eventos históricos, como a própria assembleia legislativa, destes sete anos de gestão nassoviana. A serviço do exercício do poder, o jogo político, através do imaginário, inculcará no povo, sem o mesmo sentir tal técnica de ação invisível, sentimentos de esperança, de identidade e de convicção no governo. No caso específico da convocação da assembleia legislativa de 1640, pode-se 34
MARAVALL, José Antonio. A cultura do Barroco: análise de uma estrutura histórica. Tradução de Silvana Garcia. 1ª Edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Imprensa Oficial, 1997, p. 353. 35 Ibid., p. 363, 382. 36 BACZKO. Op. cit., p. 310
75 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
lançar mão da bem-sucedida contribuição teórica de Baczko como ferramenta analítica e elucidativa deste episódio singular. Ele afirma, acertadamente, que O princípio que leva o homem a agir é o “coração”, são as suas paixões e os seus desejos. A imaginação é a faculdade específica em cujo lugar as paixões se ascendem, sendo a ela, precisamente, que se dirige a linguagem enérgica dos símbolos (...). O homem, na sua qualidade de ser sensível é guiado (...) por “objetos imponentes, imagens chamativas, grandes espetáculos, emoções fortes”.37
Se o coração é o princípio que convoca – ou, nos termos de Pierre Bordieu, mobiliza – o ser humano à ação e a empreender suas energias em jogo, pode-se colocar a perspicaz ideia da primeira assembleia legislativa – nunca antes vista, pensada ou, sobretudo, colocada em ação, na prática – intrinsecamente inserida nesta utilização do imaginário social. Tal empreendimento da sua convocação nada mais criou do que uma representação – no sentido, já exponenciado aqui, de “fazer presente alguma coisa ausente, isto é, re-apresentar como presente algo que não é diretamente dado aos sentidos”38 – da própria grandiosidade e legitimação do poder nassoviano. É como a própria pergunta retórica que Antônio Paulo Rezende, docente da Universidade Federal de Pernambuco, coloca: “Quem pode esquecer todo um imaginário que se criou a partir dos feitos de João Maurício de Nassau? (...) Os mortos parecem governar os vivos”39. E, neste quesito, poucas são as imagens tão chamativas, com emoções convocadas tão fortes, quanta a da realização da primeira reunião legislativa de toda a porção sul-americana.
5. Conclusão: Nassau, o engenheiro de tramoyas Conforme dito, por ser um elemento exógeno, invasor e imposto ali, o Conde de Nassau necessitava mobilizar a adesão da população e o reconhecimento da sua legitimidade administrativa. Esta busca de capital simbólico, enquanto conquista de corações e mentes de seus governados, fica melhor elucidado na análise do episódio da reunião legislativa enquanto uma instrumentalização deste referido domínio simbólico. Na análise interpretativa acerca da figura nassoviana, o docente holandês José van den Besselaar (1916–1991) – que chegou a ministrar aulas, por seis anos, em 37
Ibid., p. 301–302. FALCON. Op. cit., p. 46. 39 REZENDE, Antônio Paulo. Recife: espelhos do passado e labirintos do presente ou as tentações da memória e as inscrições do desejo. In: BRITTO, Jomard Muniz de; VERRI, Gilda Maria Whitaker. Relendo o Recife de Nassau. 1ª Edição. Recife: Bagaço, 2003, p. 102. 38
76 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
regime de contrato, pela Universidade Católica de São Paulo – afirma que o referido governante da Nova Holanda “conquistou coisa muito melhor do que cidades e fortalezas: a simpatia de inúmeras pessoas. O poeta Vondel, referindo-se ao caráter amável de Maurício, diz com muita razão: ‘Quem ganha os corações vence o herói que ganha praças”40. Tal constatação parece estar contida, em outras palavras, no próprio discurso de Nassau na sua despedida do solo brasileiro: Não penses que o castelo do governo consiste de fortalezas, muralhas e trincheiras: ele se encontra no interior das consciências. (...) A grandeza dos Estados não pode ser medida pelas extensões territoriais e latifúndios, mas pela lealdade, benevolência e respeito dos habitantes. 41
Justamente por essa busca do interior das consciências, o governo nassoviano pode ser analisado, por sua essência, enquanto uma teatrocracia, conceito este construído pelo sociólogo francês Georges Balandier. Na sua análise, “todo sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos, entre os quais se comparam às ilusões criadas pelas ilusões do teatro”42. Assim, este governo dos bastidores, como ele mesmo define, controla o real através do imaginário. Para o intelectual em questão, com a teleologia de ser aceito, o soberano deveria enganar os seus súditos. Ao contrário de impor diretamente o seu poder, à base da violência autoritária, o mesmo faz com que seus governados adiram, de forma voluntária, ao seu poder, ganhando, assim, a sua legitimidade enquanto mandante. Em uma dramatização representacional de sua própria imagem, o governante ganha a confiança de sua população ao conquistar o coração dos mesmos, além de criar nestes um sentimento ilusório de parcela de poder, de participação no governo. Por conseguinte, neste modo singular de governar, similar à produção de um espetáculo, o governante da Nova Holanda comportava-se “(...) como ator político para conquistar e conservar o poder. Sua imagem, as aparências que ele tem, poderão assim
40
BESSELAAR, José Van Den. Maurício de Nassau, esse desconhecido. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 1982, p. 81. 41 SILVA, Leonardo Dantas. João Maurício: um príncipe renascentista. In: VIEIRA, Hugo Coelho et al. (Orgs). Brasil Holandês: história, memória e patrimônio compartilhado. 1ª Edição. São Paulo: Alameda, 2012, p. 129. 42 BALANDIER, Georges. O poder em cena. Tradução de Luiz Tupy Caldas de Moura. 1ª Edição. Brasília: Editora UnB, 1982, p. 6.
77 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
corresponder ao que seus súditos desejam encontrar nele. Ele não saberia governar mostrando o poder desnudo e a sociedade em uma transparência reveladora”43. Todavia, conforme já foi salientado anteriormente, não é por causa disso que esta simbologia política deve ser visualizada enquanto o reverso do real, sendo tal interpretação um profundo equívoco. Os dramas desta teatrocracia não eram nem ilusões, nem mentiras. Tal dramaturgia do poder não era, de forma alguma, exterior ao seu funcionamento: ao contrário, ela era o próprio estado tal como se apresentava na realidade – uma espécie de metonímia estatal. À exceção dos chamados “homens de guerra” – os quais “não se mascaram dessa maneira, porque efetivamente o seu papel é mais essencial, afirmando-se pela força, enquanto os outros o fazem por meio das dissimulações”44 –, há esta tendência majoritária – a das dissimulações. Na análise do sociólogo francês Roger Chartier, os exemplos mais manifestantes são “as formas de teatralização da vida social na sociedade do Antigo Regime. (...) a representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão, em um instrumento que produz uma imposição interiorizada, necessária lá onde falta o possível recurso à força bruta”45. Esta busca da legitimidade e da adesão dos seus governados através da dominação simbólica detém a força de suas ideias produzidas não pelo seu caráter de verídico ou não – embora possa haver verdade nestas representações –, mas sim, de acordo com o sociólogo francês Pierre Bordieu, na sua capacidade de mobilização, que faça com que o governo seja reconhecido e aclamado como legítimo. Em outras palavras, utilizando o domínio do imaginário social, enquanto uma atitude técnicoinstrumental para a implantação desta dominação simbólica, há a geração de um sentimento de encantamento e comoção, com a oculta teleologia implícita do comovimento – na acepção de caminhar juntos, como um só organismo. Ao que tudo indica, o Conde de Nassau pautou sua governabilidade na Nova Holanda na teoria das aparências, cujo principal representante é o fundador do pensamento político moderno, o florentino Nicolau Maquiavel. “Governar é fazer
43
Ibid., p. 6–7. CHARTIER, Roger. Por uma sociologia das práticas culturais. In: Idem. A história cultural entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela Galhardo. 4ª Edição. Lisboa: Difel, 1998, p. 22. 45 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: Idem. À Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. 1ª Edição. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002, p. 75. 44
78 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
crer”46: são não só as aparências do governante, mas, sobretudo, a profunda crença de seus governados nestas, que fazem com que a população se encha de esperanças e doem energias a esta gestão. Ou seja, de “fazer crer que se pode fazer o que se diz”47, em uma forma de mão-dupla mobilização/crença, ou “de dar a conhecer e de fazer reconhecer”48. O historiador polonês Bronislaw Baczko efetua um breve resumo desta teoria das aparências de Maquiavel, trecho este que, embora seja de autoria do intelectual florentino, dá a impressão de analisar exatamente o que o próprio Conde João Maurício empreendeu com o episódio do assembleia de 1640: O Príncipe, rodeando-se dos sinais do seu próprio prestígio e manipulando habilmente toda a espécie de ilusões (símbolos, festas, etc), pode desviar em seu proveito as crenças e impor aos seus súditos o dispositivo simbólico de que retira o prestígio da sua própria imagem. 49
Para finalizar, cabe a conexão entre o modo de governar nassoviano e dois conceitos trazidos por José Antônio Maravall, no seu estudo sobre a conjuntura barroca – abordagem esta que empreenderei na minha futura dissertação Conde de Nassau, o engenheiro de tramoyas: a cultura do Barroco e a teatrocracia nassoviana –: os conceitos de engenheiro e de tramoyas. João Maurício, enquanto governante exógeno, invasor e imposto, necessitou conquistar a adesão e reconhecimento de seus governados, a fim de manter a ordem, o controle do território e a conservação do poder – lógica da governança barroca50, da qual este episódio de 1640 se apresenta como um de seus fiéis representantes metonímicos, da parte pelo todo –, através não da coerção autoritária, mas sim, pelo contrário, por meio da mobilização de um capital simbólico de prestígio e crença. Assim, o mesmo nada mais seria do que um completo engenheiro: indivíduo que “pretende, com a posse de um saber fazer determinado, refazer artificialmente uma realidade dada, tratando-a sábia e calculadamente em sua aplicação, como um
46
BACZKO. Op. cit., p. 301. BORDIEU. Op. cit., p. 185. 48 Ibid., p. 174. 49 BACZKO. Op. cit., p. 301. 50 “atitude basicamente conservadora (...), decisivamente antiinovadora (...). Através da novidade que atrai o gosto, penetra o enérgico constituinte dos interesses tradicionais (...), em conexão com as técnicas de domínio e direção da vontade (...) em prol de um sistema de reforço da tradição monárquicosenhorial”. (MARAVALL, Op. cit., p. 356–358) 47
79 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
aparato”51. Nesta conjuntura de visar alcançar tamanho empreendimento de reelaboração, alcançando uma legitimidade plena a partir da convocação emotiva da população, um dos episódios que pode ser analisado é justamente este da assembleia legislativa. Este evento histórico, dados os argumentos aqui já apresentados, não passaria de um mero jogo de cena, podendo ser visualizado enquanto uma sofisticada tramoya: "neologismo da época barroca que se refere a maquinismos produtores de efeitos surpreendentes, principalmente no teatro"52. Em síntese: foi o Conde de Nassau um astuto engenheiro de tramoyas, uma vez que efetuou uma recriação da realidade – reelaboração esta que encontra-se conectada ao tripé de motivações geradoras da convocação da própria reunião, conforme já foi esclarecido aqui anteriormente –, criando, através de um mecanismo de falcatrua – a convocação da assembleia –, uma ilusão representativa – a de que todos na Nova Holanda eram ouvidos e atendidos, sendo o governo solícito, preocupado e em prol, acima de tudo, do bem-estar de seus governados. É, por ser este engenheiro de tramoyas, que o Conde João Maurício de Nassau ainda está intensamente presente no cotidiano pernambucano, vivo, em corpo e alma. Isto se dá pelo fato de que, embora seu corpo biológico tenha perecido há um pouco mais de três séculos, a sua representação memorial ainda está, evidente e eminentemente, perceptível, a olhos vistos. Sua memória ainda arde, como fogo em brasa.
BIBLIOGRAFIA
BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmundo et al. (Orgs). Anthropos-homem. 1ª Edição. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 296–332. BALANDIER, Georges. O poder em cena. Tradução de Luiz Tupy Caldas de Moura. 1ª Edição. Brasília: Editora UnB, 1982. 78 p. BESSELAAR, José Van Den. Maurício de Nassau, esse desconhecido. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
51 52
Ibid., p. 25. Ibid., p. 371.
80 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
(FAPERJ), 1982. 81 p. BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1989. 311 p. BOXER, Charles Ralph. Os holandeses no Brasil: 1624 – 1654. Tradução de Olivério Mário. de Oliveira Pinto. 2ª Edição. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2004. 465 p. CHARTIER, Roger. Por uma sociologia das práticas culturais. In: Idem. A história cultural entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela Galhardo. 4ª Edição. Lisboa: Difel, 1998, p. 13–28. _______________. O mundo como representação. In: Idem. À Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. 1ª Edição. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002, p. 61–79. FALCON, Francisco Calazans. História e representação. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (Orgs). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. 1 ª Edição. São Paulo: Papirus, 2000, p. 41–99. GESTEIRA, Heloisa Meireles. Cidade Maurícia: a colonização neerlandesa no Brasil. Dissertação de Mestrado, História, Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO), 1996. 109 f. KANTOROWITCZ, Ernest Hartwig. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. Tradução de Cid Knipel Moreira. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 548 p. MALERBA, Jurandir. Para uma teoria simbólica: conexões entre Elias e Bordieu. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (Orgs). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. 1 ª Edição. São Paulo: Papirus, 2000, p. 199–225. MARAVALL, José Antonio. A cultura do Barroco: análise de uma estrutura histórica. Tradução de Silvana Garcia. 1ª Edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Imprensa Oficial, 1997. 418 p. MELLO, Evaldo Cabral de. Nassau – Governador do Brasil Holandês. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 289 p. MELLO, José Antônio Gonsalves de. Fontes para a História do Brasil Holandês: a administração da conquista. Volume 2. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Fundação Nacional Pró-Memória, 1985. 506 p. 81 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
NASCIMENTO, Rômulo Luiz Xavier do. Pelo lucro da companhia: aspectos da administração do Brasil Holandês. Dissertação de Mestrado, História, CFCH, Universidade Federal de Pernambuco, 2004. 133 f. REZENDE, Antônio Paulo. Recife: espelhos do passado e labirintos do presente ou as tentações da memória e as inscrições do desejo. In: BRITTO, Jomard Muniz de; VERRI, Gilda Maria Whitaker. Relendo o Recife de Nassau. 1ª Edição. Recife: Bagaço, 2003, p. 92–106. SILVA, Leonardo Dantas. Holandeses em Pernambuco: 1630-1654. 2ª Edição. Recife: Instituto Ricardo Brennand, Editora Caleidoscópio, 2011. 368 p. _______________. João Maurício: um príncipe renascentista. In: VIEIRA, Hugo Coelho et al. (Orgs). Brasil Holandês: história, memória e patrimônio compartilhado. 1ª Edição. São Paulo: Alameda, 2012, p. 125–139. 338 p. SILVA, Ricardo José de Lima e. A estratégia da saudade: aspectos da administração nassoviana no Brasil Holandês (1637–1644). Dissertação de Mestrado, Administração, EBAPE, Fundação Getúlio Vargas, 2012. 110 f. STRAATEN, Harald S. van der. Brasil: um destino. Tradução de Lace Medeiros Breyer. 1ª Edição. Brasília: Instituto Cultural Maurício de Nassau; Linha Gráfica Editora, 1998. 176 p. VILLARI, Rosário. O Rebelde. In: Idem. O Homem Barroco. Tradução de Maria Jorge Villar de Figueiredo. 1ª Edição. Lisboa: Presença, 1995, p. 97–114. WATJEN, Hermann. O Dominio Colonial Hollandez no Brasil: um capitulo da historia colonial do seculo XVII. Tradução de Pedro Celso Uchoa Cavalcanti. 1ª Edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. 559 p. Artigo recebido em: 15 de Setembro de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
82 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
OS TRABALHADORES NAS PROPAGANDAS POLÍTICAS DO PTB E DO PARTIDO PERONISTA MAYRA COAN LAGO* 1
RESUMO Este estudo pretende investigar as representações dos trabalhadores e as reproduções dos “elos” entre eles e Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón, sob a ótica partidária-governamental. Deste modo, analisaremos algumas das propagandas políticas no segundo governo de Getúlio Dornelles Vargas (19511954) e no segundo momento do primeiro peronismo de Juan Domingo Perón (1951-1955). Para lograr o objetivo é mister analisar a criação e atuação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido Peronista, por meio das propagandas, como uma das organizações fundamentais para a produção e reprodução dos imaginários sociais, tal como dos discursos partidários sobre os “elos” ou as “alianças” entre os trabalhadores e os mesmos. Do mesmo modo, deve-se investigar a personalização produzida pelos partidos em torno de seus “criadores” como os únicos representantes dos interesses dos trabalhadores. PALAVRAS-CHAVE: Trabalhador. Getúlio Vargas. Juan Domingo Perón.
ABSTRACT This study aims to investigate the workers representations and reproductions of "links" between them and Getúlio Vargas and Juan Domingo Perón, under the party-government perspective. Thus, we will examinate some of the political advertising in the second government of Getúlio Vargas Dornelles (1951-1954) and the second moment of the first Peronist Juan Domingo Perón (1951-1955). To achieve the objective it is necessary to analyze the creation and performance of the Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) and the Partido Peronista, through political advertising, as one of the key organizations for the production and reproduction of social imaginary as partisan speeches about “links” between workers and the same. Similarly, we should investigate the personalization produced by the parties around their "creators” as the only representatives of the interests of workers. KEY-WORDS: Worker. Getúlio Vargas. Juan Domingo Perón.
***
*
Mestranda pelo Programa Interunidades em Integração da América Latina (PROLAM/USP). Especialista em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP-SP). Graduada em Relações Internacionais pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Email: mayracoan@usp.br
83 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Introdução Os governos de Getúlio Dornelles Vargas e Juan Domingo Perón demarcam, na história de seus países, um novo processo político, econômico e social. Sobretudo a partir de seus governos nas décadas de 1930, no Brasil, e 1940, na Argentina, um ator político entra em cena. Segundo José Luis Beired (1999), a “política de massas” pode ser caracterizada pela quebra da antiga ordem e a construção de novos sistemas de poder, baseados no reconhecimento das maiorias sociais. Ainda segundo o autor, dois vetores fundamentais balizaram esta “quebra” na América Latina: os governos que desenvolveram instrumentos de integração e mobilização dos setores sociais; e os movimentos políticos, de extração popular, que buscaram alcançar o poder, seja por meio de eleições ou pelo uso da força. O terceiro vetor “adicional” seria as transformações das estruturas sociais que acompanharam a industrialização. Os regimes nacional-populares que emergiram, desenvolveram uma política de massas por meio da criação de partidos políticos e organizações sindicais nacionais, da doutrinação de jovens e crianças na escola, assim como através de um eficiente sistema de comunicação, que utilizou as técnicas de propaganda disseminadas a partir dos anos 1930, inspirando-se nos regimes nazista e fascista: rádio, cinema, imprensa, rituais cívicos e manifestações de massa em espaços abertos com a presença do líder (CAPELATO, 2009). Tais regimes não ocorreram simplesmente pela manipulação das massas ou por fatores materiais, como a redistribuição de renda e a ampliação dos direitos sociais. Nesse sentido, deve-se considerar também a relevância do componente imaterial, simbólico, representado pelo sentimento de participação dos setores sociais na vida nacional, mesmo que tal sentimento não tenha uma relação necessária com a efetiva influência dos setores populares sobre as decisões governamentais. O segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) e o segundo momento do primeiro peronismo de Juan Domingo Perón (1951-1955) são expressões destes regimes nacional-populares no Brasil e na Argentina. Em 1945 e 1947 o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Peronista são criados por Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón, anunciando, ao menos uma característica em comum: a preocupação e interesse em servir aos atores que entraram em cena, isto é, os trabalhadores.
84 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Rádio, revistas, panfletos, propagandas e a festa do Trabalhador foram alguns dos instrumentos utilizados pelos governos para difundir uma ideia de coesão e legitimidade de seus governos, além da própria união e simbiose entre os governantes e os trabalhadores. Partido, líder e governo se combinam para (re) inventar imaginários sociais sobre o trabalhador, os “elos” e “alianças” entre os trabalhadores e o governante e a importância de Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón como os únicos representantes dos interesses dos trabalhadores. Estes mecanismos foram utilizados amplamente no período do Estado Novo no Brasil e do primeiro momento do peronismo na Argentina. No entanto, é no segundo governo de Vargas e no segundo momento do primeiro peronismo que queremos nos concentrar, procurando refletir a partir dos seguintes questionamentos: Como os trabalhadores foram representados? Quais imaginários sociais sobre os trabalhadores foram produzidos? Os “elos” ou as “alianças” entre os trabalhadores e os governantes foram reproduzidos pelas propagandas dos partidos PTB e Peronista? Em que medida convergiram com os produzidos pelos governos de Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón? Para refletir a partir destes questionamentos, selecionamos algumas das propagandas políticas dos partidos criados por Vargas e Perón. Para lograr a reflexão este trabalho está dividido em duas partes, além desta introdução e das considerações finais: na primeira trataremos da criação e atuação do PTB, sobretudo no âmbito propagandístico; e na segunda trataremos da criação e atuação do Partido Peronista considerando também o âmbito propagandístico.
1. A Combinação do trabalhismo e do getulismo: Partido Trabalhista Brasileiro
Segundo Gomes (2002), quando o Estado Novo foi derrubado, em outubro de 1945, havia se formado uma nova cultura de direitos de cidadania no Brasil, uma nova representação da autoridade política, tal como uma nova proposta de comunicação entre autoridade política e povo. A “pregação” ideológica do Estado Novo fundará como ideologia o trabalhismo e criará um movimento de opinião pública favorável à figura de Vargas, o getulismo. Trabalhismo e getulismo são termos que se complementam no Estado Novo à medida
85 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
que a defesa e as conquistas do trabalho são diretamente associadas à imagem de Vargas, como podemos notar nos cartazes de Primeiro de Maio em 1943:
Figura 1 e 2: Cartazes produzidos pelo DIP em 1943, anunciando a concentração trabalhista (esquerda) e a promulgação da CLT (direita), respectivamente. Fonte: CPDOC/FGV.
Nestes cartazes podemos observar alguns elementos característicos da propaganda varguista, que continuariam sendo utilizados posteriormente: a primeira delas é o culto à imagem de Vargas combinado com as frases de exaltação, seja pela comemoração do Primeiro de maio ou pela “autoria” e “promulgação” das leis sociais; a segunda é referente às representações dos trabalhadores, com ferramentas que indicam o trabalho para atingir a modernidade, o progresso e a construção do “novo” Brasil. Para Gomes (2002) a deposição de Vargas em outubro de 1945 caracterizou um movimento assimétrico, isto é, caía o Estado Novo, mas crescia o “prestígio” do até então ditador. Como exemplo deste “prestígio”, tomamos o movimento queremista, com os dizeres “Queremos Getúlio” e “Constituinte com Getúlio”, constituído por grande parte dos trabalhadores brasileiros. O processo de redemocratização de 1945 teve uma influência expressiva de Getúlio Vargas. Parte do sistema partidário surgiu dos arredores e do presidente: o Partido Social Democrático (PSD), de cunho conservador, preocupado com uma transição política controlada, que evitasse mudanças abruptas nos rumos políticos do país,
reunia
interventores
estaduais
que
controlavam
importantes
aparatos
administrativos e clientelísticos; e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), encarregado de veicular as propostas trabalhistas de Vargas em termos partidários. Embora nascidos da mesma “fonte”, de cunho getulista, os adeptos destes partidos enxergavam Vargas sob uma dupla ótica: os do PSD consideravam Vargas um 86 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
grande estadista e moderno administrador, que aprendeu as “necessidades do país”; e os do PTB consideravam Vargas o “pai dos pobres”, entendedor e garantidor das necessidades sociais, criador da legislação social. Como forte opositores aos partidos de cunho getulista tinha a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Comunista (D´ARAÚJO; GOMES, 1989). De acordo com Gomes (1994), o provável modelo inspirador do PTB foi o Partido Trabalhista inglês, sendo que as bases do PTB foram montadas a partir da estrutura do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou seja, com a utilização das lideranças sindicais e dos organismos previdenciários e, sob os cuidados do então Ministro do Trabalho e orador da Hora do Brasil, Alexandre Marcondes Filho. Maria Celina D´Araújo (1996), no livro Sindicatos, carisma e poder, ressalta o papel de Vargas para a fundação do partido “carismático”. Segundo a autora, o líder estabeleceu sua base social- os sindicatos corporativistas-, e definiu seus objetivos em termos da defesa de legislação social e do desenvolvimento nacional. Permeado pela personalidade e liderança de Vargas, o PTB sofreu, desde a sua fundação, fortes conflitos internos entre facções de seguidores. Após acordo com o PSD1, em novembro de 1945, Vargas divulgou um manifesto em que conclamava os trabalhadores a votar nos candidatos do PTB nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e no candidato do PSD, Eurico Gaspar Dutra, para presidência, pois se enquadrava aos princípios e programas do Partido Trabalhista Brasileiro e, portanto, poderia representar a nação: O general Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD, em repetidos discursos e, ainda agora, em suas últimas declarações, colocou-se dentro das ideias do programa trabalhista e assegurou a esse partido garantias de apoio, de acordo com as suas forças eleitorais. Ele merece, portanto, nossos sufrágios (VARGAS, 2011, pp. 502).
De acordo com D´Araújo e Gomes (1989), a condição sine que non para a vitória de Dutra estava na palavra de Vargas, em seu comprometimento pessoal. A
1
Em compromisso formalizado em uma carta confidencial, assinada pelo candidato do PSD, General Eurico Gaspar Dutra, ficou acordado: “Prezados senhores: Respondendo à consulta que me foi feita, tenho o prazer de, com a presente, confirmar nossos entendimentos pelos quais ficou assentado o seguinte: 1-) Quando eleito, escolherei, para o ministro do Trabalho do meu governo, pessoa de minha confiança, de comum acordo com o PTB; 2-) O ministério, com exceção das pastas militares, será constituído por elementos que apoiam minha candidatura, proporcionalmente ao número de votos que me forem concedidos pelos mesmos; 3-)As inventorias serão distribuídas, também na mesma proporção; 4-) Apoiarei o programa do PTB e procurarei fazer com que as justas aspirações dos trabalhadores sejam postas em prática pelo meu governo; 5-) Reconheço as atuais leis trabalhistas e de amparo social e procurarei melhorá-las e aperfeiçoar sua aplicação (GV 45.11.14.FGV/CPDOC)
87 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
campanha do “marmiteiro”2 precisava do “Ele disse: vote em Dutra”. Ainda segundo as autoras foi isto que se verificou às vésperas das eleições, pois, os comícios de encerramento da campanha de Dutra- no largo da Carioca e em Juiz de Fora- são considerados uma apoteose a Getúlio. São verdadeiras manifestações queremistas, com retrato e legendas de Vargas e com o conselho: vote no general Dutra (D´ARAÚJO; GOMES, 1989, p. 31-32).
Realizadas as eleições, concorrendo em 14 estados, o PTB elegeu 22 deputados federais e dois senadores, entre eles Getúlio Vargas, formando a terceira bancada da Constituinte. Ademais, o candidato da coligação PTB-PSD, Dutra, também foi eleito. Segundo Gomes (1994), o sucesso nas urnas era oriundo de três troncos: a liderança de Vargas, o trabalhismo e as suas bases sindicais. Neste sentido, cabe ressaltar a afirmativa de Gomes (2002), de que o PTB nasceu de e para Vargas, ainda no Estado Novo, e se afirmara nas eleições de 1945 com Vargas e seus “trunfos”: o getulismo e o trabalhismo: Da votação do PTB num total de 603000 votos nas eleições de 1945, 318000 foram dados a Vargas, que, concorrendo em vários Estados, foi eleito para o Senado por São Paulo e Rio Grande do Sul e para deputado federal na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. Vargas foi, assim, o que se convencionou chamar no linguajar eleitoral como um grande puxador de legenda (FERREIRA, 1975, p. 345).
Ainda assim, naquele momento, a estrutura do PTB era precária. Segundo D´Araújo (1992), o PTB existia como partido, conseguia reunir o voto das classes trabalhadoras, mas era “Getúlio”, isto é, eleitoralmente, o trabalhismo espelhara sua face ideológica no getulismo. Deste modo, D´Araújo e Gomes (1989) assinalam que era essencial para o PTB manter desperta a ideia e a origem de sua constituição. A preocupação com a propaganda reunia elementos ideológicos e pragmáticos, isto é, a mensagem ao trabalhador deveria ser, por um lado, objetiva e, por outro lado, lembrar-lhe a importância e eficácia do patrimônio de que já dispunha para a defesa de seus interesses. Segundo Ivete Vargas, o trabalhador era muito objetivo, pois (...) tem consciência de que ele foi incorporado realmente à sociedade brasileira graças à legislação social que Getúlio Vargas propiciou aos 2
Um slogan que foi criado por Hugo Borghi, José Junqueira e Nelson Fernandes, articuladores da campanha PróDutra no PTB, como resposta a um discurso de Eduardo Gomes, no qual ele declarara não precisar dos votos da “malta” que vai a comícios. “Malta” é um dos sinônimos possíveis para “marmiteiro”, facilmente associado aos trabalhadores. Deste modo, os articuladores da campanha passaram a utilizar a expressão para mobilizar os trabalhadores, que estariam sendo considerados um “bando de desocupados” pelo brigadeiro. A campanha das “marmitas” procurava polarizar as candidaturas, identificando o brigadeiro com um eleitorado de grã-finos e Dutra com o eleitorado dos “pobres/trabalhadores” (D´ARAÚJO; GOMES, 1989).
88 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
trabalhadores do Brasil. Não emocionava à classe operária o fato de ter havido um período de exceção (...). O que o trabalhador registrava é que naquele instante era um homem que, quando tinha um emprego, tinha um horário de trabalho, um salário mínimo, tinha a previdência social para lhe proporcionar uma assistência médica (...); enfim, ele passou a existir (VARGAS, FGV/CPDOC, p.104-105 ).
Este imaginário social mencionado por Ivete Vargas foi muito utilizado nas propagandas políticas. O PTB teve preocupação com a propaganda de seu ideário e seus objetivos através dos meios de comunicação de massa, como a rádio, panfletos e jornais. A primeira marca do PTB era ser o defensor e continuador da obra social de Vargas e dos laços produzidos entre Vargas e os trabalhadores. Deste modo, as propagandas frisavam o trabalhador, que a partir das obras de Getúlio Vargas no Estado Novo, teria melhores condições tanto no âmbito político-econômico, quanto no simbólico. Os elementos se combinavam para expressar a ruptura entre o passado e o presente, entre o trabalhador omisso x presente na política, entre o trabalhador sem direitos x trabalhador com direitos, entre o trabalhador objeto e o trabalhador homem, entre outros. Tomemos alguns exemplos da propaganda política do PTB. O primeiro é o da propaganda política eleitoral de 1945, a qual é possível observar alguns dos elementos apontados. Além do conhecido vocativo “trabalhadores”, utiliza-se a “memória” e a ideia do “reconhecimento” das obras sociais realizadas pelo “amigo e líder” dos trabalhadores, anteriormente:
Figura 3: Cartaz da campanha política de Getúlio Vargas para senador e deputado em 1945. Fonte: CPDOC/FGV.
89 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Cabe atentarmos para o uso do pronome possessivo “nosso”, indicando algo que pertence a um “eu” e a um “outro”, isto é, que pertence tanto ao trabalhador brasileiro quanto ao PTB, e os demais brasileiros. Seguido do pronome “nosso”, temos o pronome possessivo “teu”, indicando algo que pertence a uma das partes, a parte que está sendo “chamada” para votar, isto é, os trabalhadores, para garantir os direitos deles. Posteriormente, retoma-se o pronome “nosso” para indicar novamente algo que pertence a ambas as partes, pois correspondeu a ambas as partes. Também é interessante atentarmos para o uso das palavras “amigo” e “líder” e não mais o “pai” (dos pobres). Uma das interpretações possíveis para a substituição dos termos é que ao final do Estado Novo, os trabalhadores já estariam “educados”, não precisando mais de um governante educativo, senão alguém que conduz, tal como um líder, remetendo a ideia de sabedoria, e que continua ao lado dos trabalhadores, compreendendo seus anseios e suas demandas, auxiliando como pode, tal como um amigo. Concomitante na propaganda está o uso da palavra “defesa”, como reafirmação da ideia de Vargas como o “defensor” dos trabalhadores. Deste modo, não há uma menção direta ao imaginário social do trabalhador, senão indireta, implícita, composta por alguns elementos que foram produzidos e (re) produzidos desde o discurso do Estado Novo, como a ideia do trabalhador consciente, do trabalhador cidadão, do trabalhador eleitor, do trabalhador educado e do trabalhador agradecido e reconhecedor das benesses proporcionadas por Getúlio Vargas. A segunda propaganda que queremos tomar como exemplo é o “Programa do Trabalhador”, isto é, o programa do PTB emitido na rádio América PRE-7 de São Paulo, no dia 9 de setembro de 1947: O Partido Trabalhista Brasileiro tem um programa. Um programa que para o trabalhador, representa a garantia de todas as suas legítimas conquistas, transformar-se-ão da letra morta das leis na responsabilidade aspirada (...). O Partido Trabalhista Brasileiro, o único Partido do Trabalhador, constitui a garantia de que a causa trabalhista prosseguirá, realizando as aspirações de todos aqueles que estão sob a sua bandeira de luta (...) O Partido Trabalhista Brasileiro é dos trabalhadores e do povo em geral, pois que a orientação de Getúlio Vargas é moldada no sentido de dar ao trabalhador a faculdade de fazer sentir as suas aspirações pela sua organização partidária3
Notamos a apropriação e aproximação dos atos de Vargas, no tocante as legislações trabalhistas, às benesses que podem ser oferecidas pelo PTB. Por outro lado, notamos a ideia do PTB como o “garantidor” do que foi oferecido anteriormente e do que poderia continuar a ser oferecido, discurso que acompanha a vida política de Vargas 3
Script para irradiação do programa do PTB pela Rádio América PRE-7, de São Paulo. Fonte: GVc1947.09.09/1.
90 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
pós-Estado Novo. Associado à ideia de garantia, cita-se Vargas, como o líder do partido, reafirmando a ideia de “orientação” aos demais homens, com sua sabedoria e experiência em atender as aspirações dos trabalhadores e do povo brasileiro. Deste modo, o trabalhador e o povo brasileiro não fariam parte de qualquer partido, mas do Partido Trabalhista Brasileiro, escrito com iniciais maiúsculas, diferenciando dos demais que poderiam ser concorrentes, como o caso da União Democrática Nacional (UDN). Ademais, devemos notar a diferenciação que se faz entre o trabalhador e o povo. Os trabalhadores podem ser entendidos como os primeiros interessados e interessantes das obras do PTB, que auxiliaram na construção dos elos entre o governante e eles, que contribuíram para uma nova forma de relação entre o presidente e seus cidadãos; enquanto o povo pode ser interpretado por, pelo menos, duas formas distintas: a primeira como os mais necessitados, os humildes, que encontrariam no Estado um auxílio para sobreviver, pois entende este povo desamparado e a segunda como as demais pessoas, que não os trabalhadores, que apoiassem a política para os trabalhadores, pois reconhecem sua importância. No tocante ao trabalhador, destacamos outro trecho do “Programa do Trabalhador”: Organização política do trabalhador, o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO tem a sua base na união dos trabalhadores. Esses são os senhores do Partido e a Vanguarda Trabalhista é a sentinela vigilante que evita no Partido a formação de grupos personalistas, afastando também qualquer veleidade de domínio financeiro4
O trabalhador e o Partido estão associados, como se um dependesse do outro para existir. Como o PTB é o partido dos trabalhadores, da categoria ou da classe social, os mesmos deveriam seguir unidos. Ademais, por um lado, o trabalhador é representado como o “senhor” do Partido, isto é, aquele que tem poder de fala, de demandas e de interferência nas decisões. Por outro lado, é representado como “sentinela”, isto é, aquele que vigia e garante a segurança do partido, sobretudo contra políticos personalistas e o domínio financeiro. Notemos que no trecho final há uma clara diferenciação entre o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO e outros partidos, que são constituídos por grupos personalistas e estão interessados em questões financeiras, “partidárias”, e não nos interesses dos trabalhadores.
4
Script para irradiação do programa do PTB pela Rádio América PRE-7, de São Paulo. Fonte: GVc1947.09.09/1.
91 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Na nossa leitura sobre esta propaganda, estas duas características só são possíveis, pois evoca-se um imaginário social de confiança no trabalhador, que educado por Vargas e seu aparato, ainda durante o Estado Novo, adquiriu consciência e cidadania, sabendo reconhecer os que estão à seu favor e os que estão contra, tal como aqueles que, de fato, garantiriam suas conquistas e direitos anteriores. A terceira propaganda que queremos analisar é a de um comício eleitoral de 1950, cujo Vargas é o candidato:
Figura 4: Painel de propaganda política produzido pelo PTB em homenagem e para a campanha política para presidente de Getúlio Vargas em 1950.
Na imagem que destacamos, queremos atentar para o letreiro e para o cartaz produzido pelo PTB em homenagem a Getúlio Vargas. Quanto ao letreiro, notamos os escritos “PTB” e “Capital e Trabalho”. Em um primeiro momento podemos interpretar o escrito “Capital e Trabalho” como uma reafirmação de um imaginário político o qual Vargas teria sido o grande conciliador entre o capital, composto pelo patronato, e o trabalho, composto pelos trabalhadores. Além desta “conciliação” em períodos anteriores, devemos atentar para as letras “PTB” acima do outro escrito e do cartaz, evocando a ideia de que estes elementos estariam inseridos no próprio partido. Com relação ao cartaz, tal como os dizeres o “grande chefe”, Vargas é representado como um homem idoso e sorridente. Os dizeres anteriores como “amigo” e “líder” foram substituídos por “chefe”, evocando a ideia de “autoridade” e “comando” do partido, direcionando-o a partir de sua “sabedoria” e de suas “ordens”. Outro cartaz interessante utilizado em um comício de 1950:
92 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 5: Cartaz de propaganda política convocando os trabalhadores a votar em 1950. Fonte: CPDOC/FGV.
Novamente, Vargas é representado como o “guia” da nação, inclusive com desenhos ao redor da cabeça que remetem às imagens religiosas, de santos, as quais emitem uma “luz”, significando também o “guia espiritual” da nação. Estes símbolos na imagem, conjuntamente com os dizeres, evocam as ideias ou os sentidos de sabedoria e conselho, reforçados pelos dizeres “Ele disse”. Ademais, o trabalhador é convocado à alistar-se e a votar no partido que representaria seus interesses, pois está sendo conduzido por aquele que lhe garantiu os direitos sociais disponíveis. A partir das propagandas analisadas nota-se que a figura de Getúlio Vargas aparece em todas as propagandas políticas, enquanto a do trabalhador não. O trabalhador e os imaginários coletivos produzidos aparecem mais no programa do PTB, o qual reafirma os imaginários coletivos reinventados do trabalhador já no Estado Novo. Este fenômeno era inesperado? Em alguma medida não, pois como afirmamos anteriormente, o partido precisava da figura e dos atos sociais de Vargas para produzir e reproduzir os imaginários coletivos acerca dos trabalhadores, do elo existente entre eles e Vargas, tal como entre os trabalhadores, Vargas e o PTB. Outro aspecto importante de ser mencionado é o personalismo de Vargas, que acabaria por não fortalecer o PTB durante o seu Segundo Governo. Em 1950, Vargas entra e vence as eleições eleitorais, com um forte respaldo para sua campanha. Embora fosse membro e “chefe” do PTB, Vargas quase não utiliza o PTB ao comentar suas ações antes e durante o seu Segundo Governo. Se tomarmos como exemplo os discursos políticos, tradicionais desde o Estado Novo, nas festas do Primeiro de Maio, notaremos a reafirmação dos laços e dos elos do governante com os trabalhadores, acima e independentes de partidos políticos no seu Segundo Governo: Trabalhadores do Brasil! Depois de quase seis anos de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato
93 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei para defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores (...) Não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas, ou simples mudanças de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo; porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa edificar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica- e não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política, que desconhece a igualdade social (VARGAS, 1951, P.35).
O discurso político do Primeiro de Maio de 1951 é significativo para a interpretação dos aspectos mencionados acima. O primeiro deles é o do suposto elo entre Vargas e os trabalhadores, sendo que Vargas continuaria representando o “velho amigo” dos trabalhadores, defensor dos interesses e aspirações legítimos dos trabalhadores; o segundo é a ideia de Vargas estar “acima”, “além”, dos partidos e das disputas políticas, pois o que fez ele retornar a “cena política” foi justamente o movimento das “massas populares”. Portanto, Vargas se diferencia e dialoga “simbolicamente” com outros políticos a partir do próprio uso da palavra “não” no discurso político, pois os demais políticos estariam interessados em atingir seus próprios interesses políticos e econômicos. Portanto, Vargas retornaria para retomar um projeto e uma “amizade” interrompida, o qual teria como um dos objetivos principais o acesso a igualdade social via verdadeira democracia social e econômica. Deste modo, podemos notar que Vargas utilizou-se mais de sua figura e atos do que do PTB. Como tocamos na questão da possível reinvenção do trabalhador, pretendemos citar um último trecho do discurso político de Vargas do Primeiro de Maio de 1954, em que enfatiza alguns dos imaginários sociais dos trabalhadores, indicando a continuidade da sua (re) invenção a partir da mudança do seu papel na sociedade: Há um direito de que ninguém vos pode privar, o direito do voto. E pelo voto podeis não só defender os vossos interesses como influir nos próprios destinos da nação. Como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas. Como classe, podeis imprimir ao vosso sufrágio a força decisória do número. Constituís a maioria. Hoje estais com o governo. Amanhã sereis o governo (VARGAS, 2011, p.762).
Ou seja, a partir dos discursos políticos de Vargas nos Primeiros de Maio e de parte da propaganda política impulsionada pelo PTB, utilizando Vargas como personagem central, é possível notarmos alguns dos imaginários coletivos produzidos, 94 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
tal como a reafirmação da (re) invenção do trabalhador a partir da ideia da cidadania, indissociável dos direitos civis, políticos e sociais. Segundo estes materiais analisados, o trabalhador adquiriu a posição de cidadão, de “ator” e sujeito social, graças a Vargas. Além da questão “simbólica” de cidadania, o trabalhador também adquiriu educação, consciência, habilidade de organização e de imposição de suas demandas tanto ao patronato quanto aos governantes. Por estes aspectos mencionados e outros, o trabalhador que está com o governo de Vargas naqueles tempos estaria possibilitado de assumir o governo futuramente.
2. A Combinação do Peronismo e do Justicialismo: o Partido Peronista Para un Peronista no puede haber nada mejor que outro Peronista Perón
De acordo com Altamirano (2001), desde 1943, Perón, como Secretário de Trabalho e Previdência, exerceu não apenas a direção política do movimento que seria conhecido como peronista, como assumiu o monopólio da definição e defesa legítima dos interesses dos “esquecidos”, isto é, dos trabalhadores. Segundo James (2013), a retórica do discurso de Perón se diferenciava de caudilhos ou caciques políticos tradicionais, pois proclamava que o Estado só poderia ser uma força social, defensor de seus direitos, se os trabalhadores tivessem unidos e organizados em torno e dentro dele, isto é, o Estado era o espaço onde os trabalhadores poderiam atuar político e socialmente para estabelecer as suas exigências e garantir seus direitos. Altamirano (2001) ressalta que esta inserção e mobilização dos trabalhadores na “equação política” se tornou cada vez mais indissociável do líder que, desde o poder do Estado, lhes oferecia expressão e representação. James (2013) denominou o papel assumido pelo discurso de Perón, desde os anos 1943-1945, como “herético”, pois proclamava a justiça social, o direito pelos frutos do progresso e o trato igualitário entre trabalhadores e patrões. Em 1946, Perón foi eleito presidente da Argentina pelo Partido Laborista, vencendo o candidato da União Cívica Radical. No mesmo ano em que foi eleito, dissolve o Partido Laborista, a União Cívica Radial e a Junta Renovadora para que todos componham o Partido Único da Revolução Nacional, que seria nomeado de “Partido Peronista”. O Partido Peronista foi criado em 1947 e foi utilizado por Perón para se reeleger em 1951 e permanecer no poder até 1955. 95 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
O Partido Peronista foi fundado sob a égide de elementos e ideais que eram constantemente mencionados, sobretudo o papel e a importância do trabalhador. Na ocasião, Perón afirmou que o peronismo era mais que um partido: Es un movimento nacional; ésa ha sido la concepción básica. No somos, repito, un partido político; somos un movimiento, y como tal, no representamos intereses sectarios ni partidarios; representamos sólo los intereses nacionales. Esa es nuestra orientación” (PERÓN apud ALTAMIRANO, 2001, p.27).
De acordo com Samuel Baily (1986), o movimento obreiro argentino já estava em marcha. No entanto, a importância de Perón advém de dois elementos fundamentais: o primeiro de importância simbólica e o segundo de importância política. Ambos elementos se confluem no significado da revolução social em benefício dos trabalhadores, iniciada por Perón. Segundo James (2013), o atrativo político fundamental do peronismo para os trabalhadores reside na sua capacidade para redefinir a noção de cidadania, inserido em um contexto mais amplo, essencialmente social. A questão da cidadania em si mesma e do acesso à plenitude dos direitos políticos foi um aspecto poderoso do discurso peronista, onde se formou a linguagem de protesto e grande ressonância popular frente à exclusão política anterior. Ainda segundo o autor, o peronismo se diferenciava de outros partidos, pois fundava o chamado político aos trabalhadores, reconhecendo a classe como força social propriamente dita, que solicitava reconhecimento e representação como tal na vida política da nação. Essa representação não poderia se materializar somente mediante o exercício dos direitos formais da cidadania e da mediação primária dos partidos políticos, mas, sobretudo, a partir do acesso direto e privilegiado ao Estado por meio dos sindicatos e de um partido político que a representasse. Assim, o discurso peronista negava a validez da separação entre Estado e política por um lado e sociedade civil por outro, definida pelo liberalismo. Propunha a redefinição da cidadania em função da esfera econômica e social da sociedade civil. Um dos reflexos foi o apelo as reformas sociais considerando a justiça, como elemento fundamental. O peronismo, como movimento e partido político, está associado a um fenômeno singular, de sobredimensionamento do lugar político dos trabalhadores organizados. Em outras palavras: não bastava afirmar a importância política dos trabalhadores, se não estivessem organizados sob a égide do partido e do movimento peronista. Deste modo, 96 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Perón tinha que revalidar sua liderança através de uma renegociação constante de sua autoridade sob os trabalhadores (JAMES, 2013). Cartazes, imagens, livros, panfletos, rádio e revistas difundiam os valores e os ideias da doutrina justicialista, a qual se apresentava como uma terceira via ao liberalismo individualista e ao comunismo ou socialista estatista. Deste modo, as propagandas políticas enfatizavam os elementos fundamentais para o trabalhador organizado, sindicalmente e partidariamente, e leal ao Perón e Evita, que construiriam juntos, uma sociedade e uma pátria mais justa, livre e soberana (PLOTKIN, 2007). Múltiplas foram as formas de difundir este imaginário e “sentimento” peronista, tal como de (re) inventar o imaginário social do trabalhador, sua missão naquele governo e o “eterno” e “profundo” elo e laço entre o mesmo e o governante, designado, por vezes, como uma simbiose. Entre os instrumentos mencionamos, tomaremos como exemplo algumas das propagandas publicadas na revista Mundo Peronista, produzidas pela Escuela Superior Peronista, responsável pela preparação e capacitação de dirigentes peronistas no governo e no partido. De maneira geral, a revista constitui um material rico para estudar a autoimagem oficial do regime, enquanto exercia o poder. Segundo Alberto Ciria (1983), a revista era composta por dois grandes grupos de materiais: o primeiro de seções humorísticas, de poemas e outros elementos culturais; e o segundo por textos doutrinários, especialmente dedicados a originalidade e superioridade do justicialismo frente o capitalismo individualista e ao comunista coletivista. Ademais, exaltava-se a figura de Perón e Evita, como os grandes “guias” da nação argentina:
Figura 6: Propaganda política “Todo esto”. Fonte: Mundo Peronista. .
A imagem acima complementa a matéria “Todo esto”, em comemoração do 4 de junho, especial também pelos seis anos de governo peronista na Argentina. Os comentários da matéria contemplam as benesses do governo peronista para o 97 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
trabalhador, para os humildes e, sobretudo, para a “grande pátria Argentina”, traçando uma diferenciação entre a Argentina “velha” e a “nova” Argentina, com toda a sua grandiosidade e glória. A matéria afirma e reafirma que todo este processo foi propiciado graças ao governo peronista, representado na imagem por seu líder Perón e sua esposa, Evita. Com relação à imagem, iniciemos notando os trabalhadores ao fundo, remetendo a alguma foto de uma das festas cívicas ou pronunciamentos de Perón e Evita. Sobreposto aos descamisados, encontram-se Perón e Evita e, no centro de ambos, o escudito, que identificava os leais ao peronismo. Uma das interpretações possíveis é que Perón e Evita estão satisfeitos com as realizações e a grandiosidade da “nova” Argentina e, por outro lado, estão protegendo a justiça social, simbolizada no centro. Acima deles notamos a figura de uma personagem sobrenatural, com asas, que pode ser aproximado a uma deusa grega ou a um anjo. A mesma segura em suas mãos duas coroas de folha ou de louros, ornamento que na Grécia Antiga simbolizava a vitória, a glória eterna e a distinção dos atletas vencedores nos Jogos Olímpicos. Deste modo, consideramos que uma das interpretações possíveis é a entrega das coroas de louros aos grandes e gloriosos líderes e vencedores da “nova” Argentina, que pela imagem ao redor da mulher que evoca a ideia de luz, parecem também estarem abençoados. As capas da revista Mundo Peronista também são um interessante exemplo da propaganda peronista:
Figura 7: Capa da revista Mundo Peronista. Fonte: Mundo Peronista.
A imagem de fundo da capa são os descamisados, público principal almejado pela revista. Sobressaem dos descamisados o escudito, acompanhados dos líderes peronistas Perón e Evita. Segundo Ciria (1983), o escudito era uma ressignificação do desenho do escudo nacional: 98 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Si bien preservaba las referencias a la pica, el gorro frigio, los laureles, el sol y hasta el celeste y blanco de la bandera pátria, con minimas alteraciones sobre el original, la mayor discrepância estaba dada por las manos estrechadas en sentido diagonal antes que el horizontal del modelo: ello podría sugerir la relación de subordinación entre el pueblo unido y organizado y su máximo Conductor (p. 285).
O escudito foi amplamente utilizado nas propagandas políticas peronistas, seja como elemento central ou como elemento secundário, demarcando que aquela propaganda política era genuinamente peronista. Outro tema continuamente abordado foi a justiça social, eixo central do seu governo. Um dos dois termos apareciam (justiça ou social) com frequência nas propagandas políticas, como podemos notar no exemplo extraído:
Figura 8: Propaganda Política “Ayuda Social”. Fonte: Mundo Peronista.
A imagem acima representa uma família, constituída, possivelmente pelos vestuários, por um trabalhador e uma trabalhadora argentina. Ademais, ambos estão com os braços levantados, como se estivessem apresentando as casas ao redor e, sobretudo a “nova” Argentina em que viviam. Acima deles notamos a bandeira da argentina com uma personagem feminina, que pode ser interpretada como a deusa que garante a justiça e ilumina aqueles que priorizam a justiça social. Entre a “deusa” e os trabalhadores estão os dizeres “Ajuda social”, correspondendo diretamente aos objetivos das políticas peronistas. De acordo com o material de propaganda política pesquisado não encontramos muitas referências aos sindicatos ou ao Partido Peronista. Deste modo é possível supor que os sindicatos e o partido, assuntos de natureza estritamente política, não fossem abordados pois, tal como Vargas, Perón insistia no fato de que o movimento peronista situava-se fora da política, a qual era lugar de conflitos e de corrupção. Como ressaltou Capelato (2002): 99 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
A propaganda fazia crer que o peronismo se preocupava apenas com a justiça e o bem-estar social, buscando melhoria das condições de vida e de trabalho. Ela frisava, acima de tudo, que o governo peronista proporcionava alegria e felicidade ao povo argentino (p. 206).
Nas festas cívicas do 17 de outubro e do Primeiro de Maio é possível notar a exaltação e gratidão aos líderes do regime, pelas maravilhas realizadas, sobretudo para os trabalhadores. Danças artísticas, bailes e coroação da Rainha Nacional do Trabalho davam o tom do espetáculo de poder, o qual “fechava suas cortinas” após a proclamação do chefe da nação, Juan Domingo Perón, aos seus “queridos descamisados”: (...) Han pasado cinco años de nuestro gobierno y como el primer día el gobierno y los trabajadores se encuentran estrechamente unidos y solidarios. Ello se debe solamente ha que el Gobierno justicialista ha hecho, hace y hará siempre, únicamente lo que el pueblo quiera y defenderá un solo interés: el del Pueblo (...) Nada podrán los políticos profesionales desplazados ni sus agitadores a sueldo en los sindicatos argentinos. Son cartas demasiadas conocidas porque los trabajadores argentinos conocen bien como procedieron ellos cuando desquiciaron el país y lo sumieron en la explotación y en la vergüenza. Sus campañas de engaños y de rumores caerán en el ridículo y en desprecio de los obreros argentinos, que conocen los ignorantes, incapaces y venales que son, por haberlos sufrido tantos años (...) Hoy podemos decir que los trabajadores argentinos estamos organizados, unidos y listos para luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad y, para terminar que llegue a todos los trabajadores argentinos un gran abrazo, con el que los saludo y los estrecho muy fuerte sobre mi corazón (PERÓN, 1951).
Como notamos, a partir do trecho do discurso político do Perón, o Primeiro de Maio de 1951 reafirma imaginários sociais sobre o trabalhador que foram frequentemente utilizados pela propaganda peronista. Do mesmo modo, o governo e suas benesses justicialistas são enaltecidas, em contraposição aos políticos profissionais, que não fazem nada e enganam o povo. Por fim, devemos ressaltar que o trabalhador do governo peronista estaria organizado, unido e pronto para lutar pelos direitos e dignidade do povo argentino, situação bem diferente dos anos anteriores, em que o peronismo não existia.
Considerações Iniciais Uma breve abordagem comparativa entre os dois governos pode nos dar linhas iniciais de investigação. No caso de Perón, ainda que ele se colocasse como a figura mais importante, podemos considerar a produção de uma simbiose entre o partido, o líder e o ator político fundamental: o trabalhador. No caso de Vargas, é possível notar um esforço do PTB para anunciar esta simbiose, visto que o governante não o faz. A preocupação de Vargas foi personalista e apartidária, procurando eternizar apenas a 100 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
aliança e o elo antigo entre ele e os trabalhadores. Neste sentido, o PTB utilizava muitos dos elementos de seu patrono, que considerava este laço com os trabalhadores como algo além de partidos, denominando-o de trabalhismo. Assim, Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón podem ser tomados como um caso particular, acima dos partidos, pois anunciavam a vocação de únicos governantes capazes de entender e defender os interesses dos trabalhadores, sendo eles os produtos e os seus partidos o resultado de suas ações. Outra questão que os aproxima foi a autodenominação de “primeiros” trabalhadores de seus países, o que os torna, fundamentalmente, as maiores e mais importantes figuras dos partidos e dos elos imaginados entre eles e os trabalhadores de seus países. Um dos elementos interessante que distancia o PTB e o Partido Peronista em relação aos governantes é o fato de para Vargas, o partido não ser tão importante quanto o movimento que propunha: o trabalhismo. No caso da Argentina, o Partido Peronista foi a base do governo, do movimento e do “sentimento” proposto por Perón, sendo de fundamental importância os trabalhadores estarem filiados a ele de corpo e mente, a partir dos fundamentos regidos por Perón. Todas as diretrizes das ações, das ideologias e das propagandas do partido estavam intimamente relacionadas ao Estado, sendo visto por muitos autores como um “apêndice” das instituições estatais, a nível nacional e provençal, subordinado as necessidades das mesmas e, consequentemente, de Perón. Destarte das aderências de Vargas e de Perón, tanto o PTB como o Partido Peronista procuraram representar e reunir os elementos e ideias necessários para consagrar a união entre os trabalhadores, os partidos e os líderes-governantes condutores. A partir de uma propaganda de massa, de maior peso no caso do Partido Peronista, os partidos produziram e (re) produziram imaginários sociais sobre os trabalhadores que constituíram uma (re) invenção do trabalhador brasileiro e argentino. Cabe dizer que muitos dos elementos e dos imaginários coletivos utilizados foram demandados pelos trabalhadores anteriormente e, assim, estes elementos foram apropriados e ressignificados nas propagandas e nos discursos varguistas e peronistas, de modo que parte dos trabalhadores se identificavam com os mesmos. Concordamos com Wagner Pereira (2009) ao afirmar que não podemos supervalorizar a eficácia e o controle das consciências de todos os indivíduos da sociedade. Ainda segundo o autor, a propaganda política reforça tendências pré-
101 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
existentes na sociedade e o sucesso do seu desempenho depende do potencial de captar e explorar os anseios e interesses predominantes. Por fim, vale ressaltarmos as considerações de Capelato (2002) referentes às imagens, aos símbolos e aos mitos produzidos pelas propagandas que atuam no sentido da mobilização social e se traduzem em práticas políticas, em uma relação complexa e não-linear. Os resultados ou a recepção destas propagandas são múltiplos e imprevisíveis, pois como lembrou Perón, ele chegou ao poder contando com a oposição da maioria dos meios de comunicação e foi deposto quando detinha o controle de todos.
FONTES Revistas Mundo Peronista, ano 3, nº 63. Mundo Peronista, ano 1, nº 22, 1952. Mundo Peronista, ano 2, nº 30. Mundo Peronista, ano 2, número 42
BIBLIOGRAFIA
ALTAMIRANO, Carlos. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires: Biblioteca del pensamiento argentino, v.4, 2001. BAILY, Samuel L. Movimento obrero, nacionalismo y politica en la Argentina. Buenos Aires: Hyspanomerica ediciones, 1986. BEIRED, José Luis Bendicho. Sob o signo da nova ordem: intelectuais autoritários no Brasil e na Argentina (1914-1945). São Paulo: Loyola, 1999. CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: O Imaginário da República no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1990. D´ARAÚJO, Maria Celina de. O Segundo Governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e crise política. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1992.
102 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
____________. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-65. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996. GOMES, Ângela de Castro; D´ARAÚJO, Maria Celina de. Getulismo e trabalhismo. São Paulo : Editora Ática, 1989. GOMES, Ângela de Castro. A invenção do Trabalhismo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. ____________. Vargas e a crise dos anos 50. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. ____________. Uma breve história do PTB. Rio de Janeiro: CPDOC, 2002. Trabalho apresentado na Palestra no I Curso de Formação e Capacitação Política, realizado na Sede do PTB. São Paulo, 13.jul.2002 JAMES, Daniel. Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013. PEREIRA, Wagner Pinheiro. “O Espetáculo do poder: políticas de comunicação e propaganda nos fascismos europeus e nos populismos latino-americanos”. In: SEBRIAN, Raphael Nunes Nicoletti (org). Do político e suas interpretações. Campinas, SP: Pontes Editores, 2009. PLOTKIN, Mariano. El día que se inventó el peronismo. Buenos Aires: Sudamericana, 2007. ____________. Mañana es San Perón: propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955). Sáenz Peña: Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013. TORRE, Juan Carlos. Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012. VARGAS, Getúlio. Getúlio Vargas. Maria Celina D´Araújo (org). Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011.
Artigo recebido em: 09 de Setembro de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
103 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
“OS INCOMPREENDIDOS”: UMA REPRESENTAÇÃO JUVENIL FRANCESA DA DÉCADA DE 19501 CARLOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS* RESUMO O presente artigo examina a produção cinematográfica “Os incompreendidos” (Les quatre cents coups, dir.: François Truffaut – 1959) objetivando esclarecer a forma através da qual a juventude francesa de finais da década de 1950 é representada no cinema. Após os traumáticos acontecimentos enfrentados por esta nação no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os franceses testemunharam a destruição dos mais caros elementos constituintes do ethos francês, além do longo processo de recuperação econômica que seguiria pelos anos finais da década de 1940 e da seguinte, a sociedade francesa deve lidar com o surgimento de novas demandas culturais oriundas de sua parcela juvenil. Nesta conjuntura, o cinema assume singular posição como meio de expressão da juventude.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Juventude. 1950.
ABSTRACT This paper examines the movie Les quatre cents coups (dir.: François Truffaut – 1959) searching clarify the characterization of French youth in the cinema of 1950’s. After traumatic events that France had to dealt with in the context of Second World War, further the long process of economic recovering during 1940’s and 1950’s, the French society must handle with the emergence of new juvenile cultural demands. In this context, the cinema has a singular position as way of juvenile expression.
KEYWORDS: Cinema. Youth. 1950.
***
1
Este texto origina-se, com modificações, da dissertação de mestrado intitulada “A Juventude Americana e Francesa no Cinema dos Anos 1950: um estudo comparado”, defendida pelo autor junto ao Programa de Pós-Graduação em História Comparada, do Instituto de História, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/IH/UFRJ). * Doutorando pelo PPGHC/IH/UFRJ, Bolsista CAPES. E-mail: carlosvsdossantos@gmail.com
104 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Introdução Os anos de 1950 são costumeiramente caracterizados, dentre outros fatores, como a década na qual a cultura jovem conquista seu espaço. A partir daquele momento, um grupo social demarcado por um elemento biológico, o pertencimento a uma faixa etária, consolida-se como uma realidade não apenas sociocultural, porém igualmente, econômica. Fundamentado, principalmente, no fato de seus membros gozarem dos anos de adolescência, esse considerável grupo transcende, ao menos parcialmente, questões usualmente presentes nas clivagens de outros recortes sociais, estabelecidos através das distinções de classe, de raça, de religiosidade, apenas para citar alguns aspectos. Cristalizando-se primeiramente nos Estados Unidos da América, o teen2 caracteriza, assim, um conjunto de padrões comportamentais compartilhados por jovens de variadas origens étnicas, de distintas classes sociais, porém relacionados pela forma de interação e consumo de uma cultura juvenil em ascensão, que não tardaria a se fazer presente em outras nações do globo. Essa sensacional constituição da juventude como uma parcela independente dentro do corpo social, ciosa de demandas específicas, não se faz sem consequências. Portadora de um novo código de conduta baseado na liberdade de ação do indivíduo, a cultura jovem é combatida pelos setores sociais mais conservadores. Na França, a compreensão de que a parcela juvenil da população alcançara um nível jamais visto de questionamento e inquietação ocorre em meados dos anos de 1950. Esta sociedade começa, então, a refletir sobre as maneiras através das quais os jovens estavam ingressando ativamente no cotidiano nacional. Caracterizada pela ansiedade, a cultura juvenil é tida como libertária, hedonista, fútil, distante das preocupações políticas nacionais, permissiva quanto aos padrões comportamentais, em especial naquilo que concerne à sexualidade e desmanteladora dos arquétipos sociais vigentes. Logo, na continuidade desta perspectiva de observação, a cultura jovem passa a ser caracterizada, principalmente, pela rebeldia despropositada, a realização de atos violentos numa postura de gratuita oposição aos valores tradicionais destas sociedades. Neste contexto, a delinquência juvenil figura como um problema social preocupante, constituindo-se como um dos aspectos integrantes do imaginário referente 2
O termo teenage ou, simplesmente, teen, passou a ser utilizado no período para caracterizar a cultura jovem que se estabelecia. Dotada de características específicas, a cultura juvenil seria delimitada e absorvida pela indústria midiática. No presente trabalho, o termo é considerado de maneira abrangente, atingindo não apenas indivíduos dentro da faixa etária adolescente, porém ainda adultos jovens que se voltassem, em comportamento e padrões de consumo cultural, aos valores considerados teen.
105 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
aos jovens dos anos 1950. Significativamente, o verão do ano de lançamento de “Os Incompreendidos” foi qualificado pelo jornal Le Monde como “o verão dos blousons noirs”3. Esta denominação, os blusões negros, caracterizava um grupo de jovens que, armados de correntes de bicicletas, atacavam pedestres e turistas, o que ocasionou dezenas de prisões. Diante destes acontecimentos e da atmosfera de materialização de uma cultura representativa da juventude através da qual o peso deste contingente tornase presente, a delinquência juvenil assume um notável potencial midiático. Desta maneira, seria no viés da violência e da incompreensão que a indústria cinematográfica absorveria as demandas socioculturais dos teens, grupo etário para o qual o cinema volta suas atenções. O caso da indústria cinematográfica francesa e sua relação com a cultura jovem estabelece-se por vias bastante singulares. Primeiramente, o cinema francês não enfrentava problemas de ordem financeira até o início da década de 1960. Se nos Estados Unidos a entrada do aparelho televisivo nos lares representou um fator de concorrência que causou a redução do público consumidor de filmes, com a queda do número de ingressos vendidos, consequência da diminuição dos frequentadores das salas de exibição, na França, a televisão tardaria a se consolidar enquanto objeto de entretenimento e veículo da cultura de massa habitualmente encontrado nas residências. Desta forma, o cinema figura como um dos grandes meios de divertimento da população urbana neste país, ao longo dos anos 1950, existindo um assíduo público espectador de filmes nas principais cidades francesas. Além disso, a posição de destaque deste produto confirma-se na variedade de edições periódicas dedicadas exclusivamente a apresentar e, por vezes, criticar o conjunto de filmes em cartaz 4. Não obstante, a existência de um grande número de cineclubes voltados à atividade de exibir e debater películas das mais variadas escolas cinematográficas e dos mais diversos períodos de produção, colabora para a formação de um distinto público consumidor de cinema. 5 Em 3
Les Jeunes en France, de 1950 à 2000. Un bilan des évolutions. INJEP, 2001. Apud: BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. Trata-se de uma seleção de artigos editados no jornal Le Monde, entre os anos de 1950 e 2000, referentes à juventude. 4 Em fins da década de 1940 e início da década seguinte surgem alguns produtos editorias comprometidos em pensar seriamente o cinema sendo, algumas destas revistas: L’Écran français, Cinémonde, La Revue du cinema, Cahiers du cinema e Positif. 5 A atmosfera cultural da Liberação impulsiona o desenvolvimento de uma atividade cinéfila, pois passados os anos do último conflito bélico mundial, estavam à disposição filmes que haviam sido censurados nos idos da República de Vichy. Além destes, películas da chamada “Era de Ouro” de Hollywood tornavam-se novamente acessíveis a um público ávido em consumir estes produtos. Segundo o historiador dos Cahiers du cinema, Antoine de Baecque, tratando do cenário dos cineclubes parisienses: “Ao fim dos anos quarenta, não se perdia jamais, por exemplo, as “terças-feiras do Studio Parnasse”,
106 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
segundo lugar, e talvez de maior importância, o negócio do cinema na França enfrentará profundas transformações na ordem do fazer cinematográfico com a eclosão do movimento consagrado pela denominação Nouvelle Vague. Evidentemente jovem, tanto em suas temáticas quanto na idade de seus principais expoentes, este movimento cinematográfico iria trazer a juventude em definitivo para o cinema a partir dos anos finais da década. De qualquer modo, financeiramente saudável, o negócio do cinema na França do início da década de 1950 é calcado em obras custosas, configurando-se grandes produções de estúdio. Estas películas são realizadas por diretores de talento reconhecido pelo grande público e, alguns deles, pela crítica, baseados em enredos convencionais, em grande parte adaptações de clássicos da literatura francesa, contando com a presença de astros e estrelas consagrados desde a década de 1930. Este tipo de fazer cinematográfico é virulentamente combatido por um restrito grupo de jovens críticos baseados, sobretudo, na revista Cahiers du Cinéma. Oriundos dos cineclubes, é neste grupo de críticos que se constitui, alguns anos mais tarde, os principais nomes da Nouvelle Vague: François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette e Eric Rohmer. Caracterizando este grupo de jovens cineastas, integrantes do movimento, informa Michel Marie: “Um dos primeiros critérios de filiação ao movimento é, aliás, a experiência em crítica. Esses jovens cineastas são cinéfilos, conhecem a história do cinema, adquiriram uma cultura cinematográfica e uma determinada concepção da direção, fundadas em escolhas estéticas, opções morais, gostos e, mais ainda, em violentas aversões.”6
Em entrevista à revista Arts, na edição de abril de 1959, Truffaut esclarece as diferenças básicas entre as técnicas de captura das imagens e de direção utilizadas pelo dito “cinema de qualidade” francês, do qual ele era um dos críticos mais ativos, e as produções dos novos diretores: Lá onde um diretor experiente realiza quinze tomadas, nós não realizamos mais que duas ou três. Isso estimula os atores que devem se jogar na água. Nossas imagens não têm a perfeição glacial habitual dos filmes franceses e o
colocando em disputa os cinéfilos nos debates eruditos mais engajados. Na quinta-feira, eram as sessões do Ciné-Club do Quartier latin animadas por Éric Rohmer, rua Danton, que não se perdiam. Existiam, ainda, as noites de gala organizadas pelo Objectif 49, o cineclube da nova crítica onde atuavam André Bazin, Roger Leenhardt e Alexandre Astruc, as três penas mais estimadas do momento.” BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. p. 27. 6 MARIE, Michel. A Nouvelle Vague e Godard. Trad. Eloisa A. Ribeiro, Juliana Araújo. Campinas, São Paulo: Papirus, 2011. p. 29.
107 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
público foi tocado pelo aspecto espontâneo de nossas realizações. Tudo isso confere aos filmes uma verdade nova. 7
A definitiva inserção da juventude no cinema proporcionada pela Nouvelle Vague é considerada sobre duas perspectivas: por um lado, buscando a renovação do negócio da produção cinematográfica na França, este movimento foi impulsionado por indivíduos que não haviam alcançado os 30 anos de idade, predominantemente homens, com a notável exceção de Agnés Vardas. As temáticas pretendiam exibir outra faceta da sociedade francesa que aquela apresentada pelo “cinema de qualidade” abordando, assim, as idiossincrasias inerentes às parcelas sociais mais jovens, focalizando a ansiedade de rapazes e moças que buscavam a adequação social enquanto reconheciam a falência dos valores de seus pais, bem como da sociedade erigida sobre estes mesmos valores; desta forma, e por outro lado, firma-se um diálogo intenso entre estas produções de jovens realizadores e o público juvenil, que se identificava com a atmosfera das obras, umbilicalmente ligadas ao ambiente cultural francês da virada das décadas 1950-1960. A Nouvelle Vague constitui-se, portanto, enquanto um movimento erigido por jovens, para os jovens, em contato direto com a cultura juvenil do período. Sobre a necessidade da consideração da juventude pela indústria fílmica na França e, principalmente, quanto à urgência da real, da direta participação do jovem na produção cinematográfica daquele país imprimindo-lhe, assim, novo fôlego, novos contornos, um rejuvenescimento de tom, de temática e de aspecto, já apontava o altamente renomado e respeitado cineasta Jean Renoir, ainda na década de 1930. Segundo ele: Que os diretores conheçam as aspirações de seu público jovem, seria preciso. Não acredito que isso se adquira em conferências. Para isso é preciso que os próprios produtores andem em meios jovens, de jovens de verdade, aqueles que trabalham, estudam, esperam o futuro. Melhor ainda, era preciso que eles mesmos fossem jovens. Aqui se coloca o problema do acesso dos jovens a uma profissão na qual é difícil entrar. Os “Produtores” têm homens já testados, cuja “dedicação” eles conhecem e fazem questão deles por isso. Eles têm medo de jovens.8
Ainda
neste
texto,
Renoir
tece
considerações
sobre
a
relação
juventude/cinema/sociedade as quais se aproximam curiosamente de pontos que animariam alguns dos movimentos cinematográficos há surgir nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, dentre eles, o movimento do cinema francês. A partir de suas palavras: 7
Revista Arts, 23 abril 1959. Apud: BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. p. 82. 8 Les Cahiers de la Jeunesse. Nº02. 15 set. 1937. In: RENOIR, Jean. O Passado Vivo. Trad.: Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. p. 42.
108 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Assim como todas as artes, o cinema deve trazer para a juventude uma única coisa: uma ajuda para o conhecimento do homem, do homem e da natureza. Porque acho que toda cultura deve tender para esses conhecimentos. E, consequentemente, o cinema deve ser um revelador de temperamentos humanos, de personagens, quer dizer que ele tem de ser antes de tudo verdadeiro, unicamente verdadeiro (sem romanesco, se possível). E se ele for simplesmente verdadeiro, está desempenhando um papel benfazejo. Apenas, isso é uma coisa muito difícil, porque as grandes sociedades não gostam da verdade. A verdade inteiramente nua é considerada um artigo revolucionário. O que a juventude pode trazer para o cinema? Em primeiro lugar, o sucesso dos filmes. Se os autores de filmes devem procurar não mentir para a juventude, é preciso que em troca a juventude apóie os filmes que não mentem e boicote os que mentem. Depois, a juventude pode trazer a renovação de nosso material artístico.9
Diante deste posicionamento, exposto mais de 20 anos antes da eclosão da Nouvelle Vague, é de se supor que Renoir tenha recebido as surpreendentes transformações impostas por este movimento jovem no cinema, no fim da década de 1950, com notada estupefação. Assim sendo, no que se refere ao negócio do cinema na França da década de 1950, percebe-se a materialização do jovem enquanto objeto singular. Pelos motivos anteriormente apontados, a produção cinematográfica volta-se à reflexão do espaço ocupado por esta parcela social, oferecendo luz especialmente às tensões presentes entre as demandas da juventude e a sociedade que a cerca, da qual ela faz parte integrante. Assim, examina-se a obra “Os incompreendidos” (Les quatre cents coups, dir.: François Truffaut – 1959) voltando-se à representação juvenil operada nesta película e o contato com o contexto sociocultural no qual a obra foi realizada. “Os Incompreendidos” e a adolescência em Truffaut “Os incompreendidos” (Les quatre cents coups, dir.: François Truffaut – 1959) se desenrola em Paris, mais especificamente no bairro de Pigalle e na rua des Martyrs. A película apresenta a vida de Antoine Doinel, um jovem adolescente por volta dos quatorze ou quinze anos de idade. Doinel é filho único de um lar conturbado. Na verdade, o homem que ele se habituou a chamar de pai não é seu progenitor, fato que lembra constantemente durante as frequentes discussões que trava com a mãe de Doinel, tendo o rapaz como testemunha. De meios modestos, a família mora em um velho e minúsculo apartamento, no qual se contam pouquíssimos luxos. Doinel é um jovem
9
Ibid, p. 42.
109 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 1. Cartaz de “Os incompreendidos”. [sem título]. <Disponível em: http://www.frenesicultural.compflerte-cinematografico.com>. Acesso em: 09 dez. 2013. .
inquieto, com problemas na escola, cuja rigidez estéril do ambiente escolar ele demonstra não compreender. Em seus embates com o professor e seus pais, veicula a ansiedade daquele que busca o lugar que lhe cabe, já que não se sente verdadeiramente incluído na sociedade, nem parte integrante em seu próprio lar, onde é desprezado pela mãe, que nele reconhece seu erro do passado. Como produção cinematográfica pertencente ao conjunto dos primeiros filmes da Nouvelle Vague, a obra de Truffaut divide com o movimento algumas de suas características, consistindo em uma película de baixo orçamento, filmada fora dos estúdios, com atores desconhecidos do grande público, quando não amadores, abordando de maneira realística questões pouco convencionais no cinema francês, como as relações familiares fragmentadas e os problemas da juventude. O enredo é em boa medida autobiográfico, tendo sido em parte baseado na adolescência do próprio diretor,
110 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
de origem humilde e que, como seu protagonista, foi interno de uma instituição correcional juvenil10. Tendo sido um dos filmes escolhidos pelo Ministério da Cultura francês para representar a nação no Festival de Cannes de 1959, “Os incompreendidos” tornou-se a constatação pública e o reconhecimento institucional da transformação que havia acometido o cinema francês. Segundo Jean-Luc Godard: “Pela primeira vez, um filme jovem é oficialmente designado pelos poderes públicos para mostrar ao mundo inteiro a verdadeira face do cinema francês.” 11 O fascínio de François Truffaut pela infância e adolescência esteve presente em alguns de seus filmes, desde o curta “Os Pivetes” (Les mistons), de meados dos anos 1950. Em artigo intitulado “Reflexões sobre as crianças e o cinema”, ele tece considerações a respeito da produção de filmes sobre este universo. Segundo ele, a adolescência é (...) a idade crítica por excelência, a idade dos primeiros conflitos entre a moral absoluta e a moral relativa dos adultos, entre a pureza do coração e a impureza da vida, é, enfim, do ponto de vista de qualquer artista, a idade mais interessante a ser iluminada.12
Para o diretor, existem alguns filmes “com jovens”, porém poucos “sobre os jovens”. Desta forma, compreende-se como intenção de Truffaut construir em seus filmes uma representação da juventude empenhada na sincera abordagem da existência do jovem, seus anseios, dúvidas, demandas, necessidades, resumindo, o contato nem sempre harmônico deste com a realidade que o cerca, sua família, imediatamente, e a sociedade, de maneira ampliada. O interesse de Truffaut em abordar a questão dos atos de delinquência perpetrados pelos jovens origina-se de sua própria experiência pessoal. Segundo ele, narrando o momento no qual foi internado no reformatório: “Era pouco depois da guerra, havia um recrudescimento da delinquência juvenil, as prisões infantis estavam cheias”.13 Além disso, no período de produção de “Os incompreendidos”, a sociedade francesa alarmava-se com o aumento da violência juvenil, tanto de ordem política, uma 10
Truffaut passou sua infância no bairro Pigalle, durante a guerra. Aos quinze anos, foi internado no Centro de Menores Delinquentes de Villejuif, detido por vagabundagem. Cf. “Quem é Antoine Doinel?” e “1979, o ano da infância assassinada.” TRUFFAUT, François. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 11 BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. p. 63. 12 “Enfants”, Le Courrier de l’Unesco, número especial, 5 de fevereiro de 1975. Apud. TRUFFAUT, François. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. p. 37. 13 “Quem é Antoine Doinel?”. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. p. 25.
111 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
vez que os atentados da OAS eram promovidos pelos membros mais jovens da organização clandestina14, quanto de ordem social, com a ampliação da delinquência juvenil exemplificada no caso dos blousons noirs, anteriormente citado. Segundo de Baecque, o papel do cinema na propagação desta mitologia da juventude, fundamentada na rebeldia e na violência, é essencial: Primeiramente, porque se imputa a ele, em parte, a responsabilidade da aparição do fenômeno: os filmes, notadamente os americanos [“O selvagem”, com Brando, “Juventude transviada”, com James Dean] tinham proposto os modelos de violência que os jovens da França se apressaram a imitar. Além disso, o cinema francês havia “mitificado” o mau rapaz conferindo-lhe aura e prestígio: Alain Delon em “Gângsters de casaca”, Johnny Halliday em “D’où viens-tu Johnny?”, ou os protagonistas de “Basta ser bonita”, “Asfalto”, “Terrain vague”, “Cent briques et des tuiles”, “Les Coeurs verts”, “La Rage au poing”... Tratava-se de um verdadeiro gênero no início dos anos sessenta, modo que testemunha os fantasmas que os agrupamentos de jovens engendram. 15
Fotografado em preto-e-branco, o filme explora uma espécie de iluminação próxima às produções do cinéma noir, própria das películas do gênero gangster hollywoodiano. Desta maneira, assume-se uma atmosfera taciturna, com cenas filmadas à noite e cenários minimalistas, por vezes com a presença apenas do ator que executa a cena. Mesmo nas captações de imagens diurnas, a iluminação é contida, sendo rodadas durante o frio e nebuloso inverno de Paris. Assim, o sol jamais é visto em plenitude no cotidiano de Doinel. Essa economia de iluminação estabelece uma relação semântica com o enredo, uma vez que a vida da personagem protagonista é igualmente obscura, tanto quanto seus dias e noites. Imerso em uma realidade angustiante, nos primeiros anos de sua juventude, Doinel parece não ver a luz do dia. A cena de abertura, durante a qual desfilam os créditos, é bastante expressiva do clima no qual adentramos a vida de Antoine Doinel. Nesta, uma câmera provavelmente afixada em um automóvel enquadra o símbolo máximo da cidade, a Torre Eiffel, por entre os prédios dos bairros que circundam o monumento. No trajeto, o espectador tem acesso desde a grandes monumentos de arquitetura neoclássica, até a antigos armazéns industriais, sempre em companhia da Torre, registrada em contraste a
14
A OAS (Organisation de l’Armée Secrète), Organização do Exército Secreto, consistia em um grupo clandestino de extrema direita. No contexto da Guerra da Argélia, este grupo se opunha à independência daquela colônia francesa, localizada no norte da África. Defendiam a noção de “Argélia-Francesa” que, não reconhecendo o status de colônia, propunha a Argélia como parte integrante da França, apesar de subjugada a esta. Dentro de suas práticas a OAS recorria aos atentados à bomba, tanto em território argelino, quanto francês. Cf. GILDEA, Robert. France Since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2002. 15 BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. p. 37.
112 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 2. Fotograma de “Os incompreendidos”. Na cena de abertura da película, na qual são veiculados os créditos iniciais, vê-se o sol, que timidamente aparece ao lado da Torre Eiffel.
um céu nublado. Voltada para cima, a câmera não capta a rua, de forma que não constam pedestres nem automóveis em movimento nas tomadas em questão. Desta maneira, é como se a cidade estivesse vazia, colaborando para a ambientação fria e ascética construída, que é completada pelas árvores desfolhadas presentes nas ruas próximas àquele símbolo arquitetônico. A única vez em que o sol torna-se visível em toda a projeção ocorre nesta cena, quando este é brevemente entrevisto, encoberto por espessas nuvens, ao lado da Torre. A música-tema, composta por Jean Constantin, acompanha toda a sequência. De andamento lento, a composição é executada por uma orquestra, sendo bastante melodiosa, com destaque para as notas agudas produzidas pelo piano, que lhe conferem significativo grau de ingenuidade. Este é o tema de Doinel, apresentado durante seus momentos de maior introspecção, ao longo da película. Na obra, os espectadores chegam ao cotidiano de Antoine através de dois vieses: sua vida escolar e sua relação familiar. A instituição escolar da qual ele faz parte do corpo discente, exclusivamente masculina, é marcada pela obsolescência das técnicas didáticas empregadas, que não são capazes de atingir os estudantes. Apesar da indisciplina, a escola não conta com sérios problemas comportamentais. Entretanto, os alunos não veem utilidade prática nos conhecimentos que devem ali absorver. Os docentes, por seu turno, não acreditam no potencial dos alunos, chegando um dos professores de Doinel a exclamar: “-Pobre França! Que futuro!”, em alusão ao baixo rendimento e comprometimento dos rapazes. Assim, mesmo quando Doinel se esforça para atender aos padrões exigidos pelo sistema de ensino do qual faz parte, acaba sendo 113 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
repreendido e penalizado, fato que o torna pouco crédulo em relação àquilo que a escola pode trazer-lhe de positivo. Em casa, o jovem rapaz conta com inúmeras responsabilidades, já que tanto o pai quanto a mãe trabalham fora. Depois de chegar da escola, é responsável pela organização do pequeno apartamento devendo, ainda, realizar as compras. Apesar disso, Doinel não reconhece uma real unidade familiar em sua casa, já que os pais vivem em uma rotina de discussões. Ao longo dos diálogos travados pelo casal, o rapaz percebe que ocupa uma incômoda posição diante deles. O homem não é verdadeiramente seu pai, tendo assumido-o quando conhecera sua mãe. Esta, por sua vez, costuma ser bastante hostil com o filho, pretendendo enviá-lo à colônia de férias para assim dele poder se afastar por algumas semanas. Como Doinel irá confessar em uma determinada cena no final da narrativa, sua mãe não o desejara e intentara realizar um aborto, evitado por sua avó materna. Desta maneira, apesar de contar com um seio familiar, Antoine Doinel sente-se órfão, alijado emocionalmente de seus pais, apesar do convívio diário. Significativo do deslocamento sentido por Antoine é o fato de ele não contar com um quarto de dormir, sendo sua cama improvisada junto à porta de entrada / saída do apartamento, de forma a impedir a completa abertura da mesma. Expressivamente, e literalmente, Antoine está no caminho, interferindo na liberdade de seus pais. As cenas desenroladas dentro do apartamento da família são rodadas desconsiderando-se alguns dos parâmetros dos códigos tradicionais da linguagem cinematográfica. Ao invés de fazer uso corrente do campo / contra-campo para captar os diálogos entre as personagens, a câmera frequentemente assume uma posição fixa dentro do mesmo cômodo no qual se encontram os atores, fotografando-os de maneira integral, todos na mesma tomada. Com esta técnica, evidencia-se a pouca distância física entre os atores, enquanto executam a cena. Devido à ausência de espaço, Doinel locomove-se por entre o casal enquanto estes conversam, não existindo nenhum grau de privacidade. Desta maneira, os pequenos ambientes da residência tornam-se ainda mais constritores, chegando a ocasionar ao espectador a sensação de claustrofobia. A iluminação utilizada nas sequências do interior do apartamento é, por sua vez, pouco elaborada, dando a impressão de se tratar, apenas, da iluminação convencional do próprio lugar. Pouco iluminado, o ambiente torna-se ainda menos convidativo.
114 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 3. Fotograma de “Os incompreendidos”. Chegando tarde a casa por ter alegadamente trabalhado até tarde, a Sra. Doinel precisa se esforçar para adentrar o apartamento pois, devido à cama de Antoine, o caminho encontra-se parcialmente bloqueado, fato que sublinha materialmente não haver espaço para o rapaz.
Sentindo-se excluído tanto na escola quanto em casa, Doinel recorre a companhia de um amigo de classe, René, para preencher seus dias, quem o ensina alguns dos truques para matar aula e obter pequenas vantagens. Em sua companhia, Doinel trafega descompromissadamente pela cidade, observando o cotidiano da mesma, o que o faz almejar apreciar uma vida diferente da que leva, saindo da escola e obtendo algum meio de sustento. Em uma dessas incursões, Antoine entra em um brinquedo de parque de diversões que consiste em um amplo cilindro dentro do qual as pessoas giram em grande velocidade, o que permite a retirada do piso sem que as pessoas caiam, pressionadas contra a parede pela força centrífuga gerada. O movimento giratório do brinquedo faz com que o jovem sinta vertigem, enquanto luta para conseguir se virar dentro do cilindro. Doinel sente, naquela estrutura, a mesma ausência de referência que experimenta em sua vida. Quando se vira de ponta-cabeça dentro do cilindro, atinge peculiar sintonia com seu mundo pessoal, que para ele está, igualmente, de pontacabeça. Os passeios, apesar de divertidos e de se constituírem, para Antoine, no momento de fuga de sua realidade coerciva, levam-no à descoberta do incômodo fato de sua mãe ter um amante, ao surpreendê-la beijando um desconhecido na rua. Quando, à noite, seu pai chega a casa e lhe diz que serão eles os responsáveis pelo jantar, o rapaz equivocadamente pensa que sua mãe partiu.
115 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 4. Fotograma de “Os incompreendidos”. Doinel gira dentro do brinquedo de parque de diversões. Em sua face percebe-se, na cena, o esforço por tentar se virar e a ausência de referência.
Apesar de não ser filho do homem que lhe sustenta, é com a mãe que Doinel tem menor proximidade. Sabendo que não foi desejado, percebe na forma hostil pela qual é tratado por ela que não é bem-vindo, chegando a ouvi-la dizer para seu marido que devem enviá-lo a um internato, caso queiram ter paz. Desta maneira, quando precisa inventar uma desculpa por ter faltado à aula, diz ao professor que sua mãe morreu. Agindo assim, assassina figurativamente a mãe, como forma de compensar a falta de afeto materno que sente. Segundo Truffaut: “Antoine Doinel avança na vida como um órfão e procura famílias substitutas. Infelizmente, quando as encontra, tende a fugir, pois permanece um escapista. Doinel não se opõe abertamente à sociedade, e nesse aspecto não é um revolucionário, seguindo seu caminho à margem da sociedade, desconfiando dela e buscando ser aceito por aqueles a quem ama e admira, pois sua boa vontade é total. Antoine Doinel não é o que se chama de um personagem exemplar, tem charme e abusa dele, mente muito, pede mais amor do que ele próprio tem a oferecer (...)”16
Além dos passeios, a cultura constitui-se enquanto uma das formas de fuga do jovem. Leitor eventual de Balzac, Doinel é frequentador assíduo das salas de cinema, assistindo filmes de variados gêneros. Numa das cenas em que está em uma sala de exibição, furta com René a fotografia de uma atriz17, o que demonstra a 16
“Quem é Antoine Doinel?”. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. p. 30. 17 Trata-se de um fotograma de “Monika”, dirigido por Ingmar Bergman, em 1952. No fotograma em questão, vê-se Harriett Andersson de olhos fechados, sob o sol, ombros nus, de pé em uma praia. A imagem é considerada a matriz da Nouvelle Vague, pela exibição do corpo, da juventude, da provocação. Note-se que se trata de um corpo feminino, o que é bastante significativo da posição destacada que a feminilidade ocupa em boa parte da produção cinematográfica identificada como pertencente a este movimento ou mesmo em títulos partícipes de suas características estéticas principais e da ordem do enredo.
116 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 5. Fotograma de “Os incompreendidos”. Os rapazes furtam uma fotografia da entrada de uma sala de exibição. A arte cinematográfica constitui-se, para Antoine e seu amigo, como o principal refúgio diante de suas angústias juvenis.
relação passional dos dois com o cinema. Na única cena em que a família Doinel aproveita momentos felizes, de descontração, os três saem à noite para ir ao cinema, o filme escolhido, “Paris nous appartient”18 (Paris nos pertence), tem um título relevante da relação fugaz do trio com a cidade. Além da família de Doinel, apenas a família de seu amigo é representada em toda a película. De classe média alta, a residência na qual mora este rapaz opõe-se ao minúsculo apartamento de Doinel pela opulência da construção, um palacete de dimensões generosas, porém envelhecido. Os laços relacionais travados, entretanto, não diferem tanto daqueles de Doinel e seus familiares. Enquanto o pai, e chefe da família, encontra-se constantemente ausente, a mãe tem problemas com o álcool, o que faz com que o amigo de Doinel conte com um grau de liberdade bastante incomum para um adolescente daquela faixa etária. Como consequência, o rapaz desenvolveu um apurado tato de adaptação às necessidades que se impõem, sendo as soluções utilizadas nem sempre legais ou moralmente aceitáveis. Será na casa de René que Antoine se abrigará, após ser injustamente suspenso na escola. Neste episódio, ele decide não voltar pra casa, pois caso o faça teme ser enviado à Escola Militar, como o pai havia ameaçado fazer. Os pais de seu anfitrião provavelmente não iriam perceber e, quando o pai nota a presença de outro garoto, não 18
Um filme homônimo seria lançado em 1961, sob direção de Jacques Rivette e produção de François Truffaut e Claude Chabrol.
117 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
tece questionamentos. Truffaut realiza de forma decadente a representação da camada tradicional da burguesia francesa, simbolizando esta situação tanto pela desestruturação familiar, quanto pelo estado desorganizado e sombrio da residência, com cômodos entulhados de objetos exóticos e paredes por pintar. Juntos, os rapazes planejam roubar uma máquina de escrever do escritório onde trabalha o pai de Doinel para empenhá-la e conseguir algum dinheiro. Fracassando neste intento, Antoine será pego no momento em que tenta devolver a máquina ao lugar de onde a tinha retirado. Sendo denunciado pelo zelador ao seu pai, Doinel é levado por este à delegacia, o que dá início a sua trajetória como jovem delinquente, aos olhos do Estado. Acreditando ser a melhor forma de corrigir o rapaz, seu pai aceita o conselho do delegado, que lhe indica uma instituição correcional onde, segundo ele, são organizados e Doinel poderá aprender um ofício. As sequências seguintes são baseadas na experiência do próprio diretor. Nas palavras de Truffaut: “Eu conhecia muito bem o que mostrei no filme: a delegacia com as putas, o camburão, a “gaiola”, a identificação judiciária, a prisão; não quero me estender sobre o assunto, mas posso dizer que o que conheci era mais duro que o que mostrei no filme.”19
A película torna-se ainda mais obscura, em consonância ao trágico destino de Doinel. Sendo transladado da delegacia para a prisão em um camburão dotado de grades na porta traseira, o jovem se despede da cidade observando-a a noite, com as inúmeras luzes dos letreiros por entre as barras. A baixa iluminação permite a visualização apenas de parte do rosto de Doinel, que chora discretamente. A cena na qual o rapaz nos é apresentado em sua cela é realizada em posição descendente, ângulo de filmagem que permite à câmera subjugar a personagem, colocando-a fisicamente sob controle. Doinel é visto deitado na cama, sozinho no restrito espaço, no escuro, no frio, no silêncio, na solidão. A trilha sonora utilizada busca sensibilizar o espectador quanto à situação do jovem que, de rapaz problemático, angustiado, foi transformado em criminoso por um sistema judicial inadequado para lidar com a juventude.
19
“Quem é Antoine Doinel?”. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. p. 25.
118 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 5. Fotograma de “Os incompreendidos”. Antoine em sua cela, detido, antes de ser enviado à instituição correcional.
Na instituição correcional, Doinel terá seus últimos laços familiares rompidos. Sendo visitado por sua mãe, que informara ao juiz responsável pelo caso que não o queria em casa novamente se ele não mudasse de comportamento, é acusado por esta de ter contado um segredo seu ao marido, provavelmente referente ao seu caso extraconjugal. A mãe, indignada, conta com satisfação que seu pai não quer mais vê-lo e que ele será mandado para um centro de trabalhos. A cena, rodada na técnica de montagem de campo / contra-campo, se constitui com Doinel sendo fotografado tendo atrás de si um fundo escuro. Vestindo um casaco igualmente escuro, apenas a face do rapaz é visível, oferecendo-se todo o enquadramento para a expressividade de seu rosto enquanto recebe as desanimadoras notícias da mãe, que consolida seu esperado afastamento dele. Na sequência final e, certamente, a mais emblemática da película, Doinel foge da instituição na qual se encontra e corre incessantemente até alcançar o mar. Seguindo uma estrada interiorana, acompanha campos secos, com árvores desfolhadas pelo inverno. Durante a projeção, ele havia anunciado o desejo de ver o litoral, que desconhecia, e talvez servir à marinha. Numa praia fria e deserta, sob o céu nublado que insistentemente acompanhou o protagonista, Doinel tem seu primeiro contato com o mar, para ele a representação maior da liberdade. Observando-o brevemente, molha timidamente os pés na água gélida, então se volta para a câmera e a encara fixamente. Seu olhar angustiado, que havia fitado rapidamente o horizonte, demonstra que Doinel não chegou ao final de sua busca. 119 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 5. Fotograma de “Os incompreendidos”. Na cena final, Doinel olha fixamente em direção à câmera, ao espectador.
Ao longo de todo o desenvolvimento da trama, Truffaut havia privado seu protagonista da liberdade. Se na escola, o rapaz deveria se submeter a um ambiente coercitivo, diante de professores e técnicas de ensino ultrapassadas e pouco funcionais, no apartamento em que vivia lidava tanto com o distanciamento de seus familiares, quanto com um espaço exíguo, sem contar sequer com um lugar apropriado para dormir. Quando o diretor oferece espaço e, desta forma, liberdade à personagem, coloca-a diante do horizonte aberto propiciado pelo mar. Entretanto, ao mesmo tempo em que o mar pode representar à Doinel a liberdade por ele ansiada, igualmente configura-se como uma barreira intransponível. Chegando ao fim da linha, Doinel não sabe aonde ir. No filme de François Truffaut, Antoine Doinel constitui-se enquanto uma personagem dupla. Se, numa primeira instância, ele é a figura “autobiografada” do diretor, possuindo os traços morais e de personalidade que Truffaut acreditava ter tido durante aquela fase de sua vida, partilhando com ele detalhes como a origem humilde, a residência em Pigalle, a passagem pelo reformatório e a paixão pelo cinema, pontualmente reafirmada na projeção, numa segunda instância, mais profunda, Doinel representa toda a juventude francesa, através de sua falta de referência social, de seu constante sentimento de angústia e da busca por um objetivo que não lhe é claro. Na última tomada, Doinel olha diretamente para a câmera, que fecha em primeiríssimo plano sobre seu rosto, uma alegoria do olhar da juventude em direção à sociedade.
120 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Consideração O presente artigo buscou abordar a representação da juventude francesa em uma produção cinematográfica realizada no final da década de 1950, momento no qual esta parcela populacional se estabelece enquanto ator social significativo e, igualmente, período da eclosão da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico considerado um dos marcos do cinema moderno, eminentemente juvenil. “Os incompreendidos” consiste em uma das primeiras obras da Nouvelle Vague. Fora do mainstream, era a proposta deste movimento de jovens diretores, do qual Truffaut era um dos principais idealizadores, forçar a renovação da produção cinematográfica francesa, com novos temas, novos roteiros, novos atores, em suma, uma nova forma de fazer cinema. Desta maneira, nada mais potencialmente promissor do que abordar a juventude de maneira realista, buscando apresentar na tela, com considerável dose de honestidade, seus dilemas internos e sua relação conflituosa com os pais, a escola, a sociedade da qual faz parte, porém na qual não se sente abrangida. Duas são as instituições sociais consideradas pela película em questão: a escola e a família. Apesar de ambas estarem presentes no cotidiano de Doinel, nenhuma destas duas instâncias parece apta a lidar com as idiossincrasias do jovem. Apesar de constante, a escola é obsoleta e estéril, não havendo qualquer aproximação aos interesses dos jovens; quanto às famílias representadas na película, estas não estão verdadeiramente presentes nas vidas dos rapazes, negligenciando-os afetivamente. Desta forma, apesar de haverem laços familiares, estes não são suficientemente firmes, sendo esta a causa principal do desvio dos adolescentes. Assim sendo, em “Os incompreendidos” não há qualquer esperança. Sem apoio escolar ou familiar, Doinel está sozinho. Talvez por isso busque refúgio em atividades artísticas, na leitura de renomados literatos, como Balzac e, especialmente, no cinema, que assiste compulsivamente. O mundo interior de Doinel é espetacularmente rico, ele, porém, não o confessa a ninguém. Suas incursões pela cidade são representativas de sua incessante busca por um caminho próprio, algo com o qual pudesse se identificar. Pela perspectiva do rapaz, a cidade comprova a possibilidade de liberação do ambiente coercitivo representado tanto pela escola, quanto pela família. Transitando despretensiosamente pelas ruas de Paris, Doinel experiencia uma atmosfera muito distante daquela de seu dia-a-dia, tendo contato com pessoas, situações e sensações que compensam a falta de horizontes que caracteriza seu cotidiano. Por isso não poderia ser 121 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
mais dolorosa sua partida à noite, no camburão. Pela janela, Doinel entrevê a intensa vida noturna da cidade, sendo as luzes dos letreiros a iluminar sua face. Privado de sua cidade, Antoine Doinel perde suas expectativas. A temática da juventude, bem como sua relação com a sociedade, continuaria presente em boa parte das películas rodadas sob o signo da Nouvelle Vague, nos anos seguintes. Tendo ultrapassado os anos de privações e desafios, a França vivencia um rápido e intenso processo de desenvolvimento econômico ao longo da década de 1950, o que implicou em profundas modificações na estrutura social e na conjuntura cultural deste país. Aos jovens do período, apresentava-se uma sociedade fortemente marcada por acontecimentos políticos que, apesar de próximos, não compunham sua memória pessoal de maneira significativa, como a Segunda Guerra Mundial, o período de ocupação nazista e a resistência, interna e externa, à mesma. Desta forma, a sociedade francesa teve de lidar com uma juventude que, através de suas demandas e anseios, modernizariam a nação.
BIBLIOGRAFIA AUMONT, Jacques et alli. A Estética do Filme. Trad.: Marina Appenzeller. Campinas, São Paulo : Papirus, 2012. ________. A Imagem. Trad.: Estela dos Santos Abreu. Campinas, São Paulo: Papirus, 1993. ________. As Teorias dos Cineastas. Trad.: Marina Appenzeller. Campinas, São Paulo : Papirus, 2004. ________. Du Visage au Cinéma. Paris : Editions de l’Etoile, 1992. ________ ; MICHEL, Marie. L’Analyse des Films. Paris : Nathan, 1988. BAECQUE, Antoine de. La Nouvelle Vague: portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 2009. BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 2008. BAZIN, André. O Cinema – Ensaios. Trad.: Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1991. BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica. In: LIMA, L. C. (org.). Teoria da Cultura de Massa. 7 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 122 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
BROWNE, Nick (Org.). Cahiers du Cinéma : 1969 – 1972 : the politics of representation. London : Routledge, 1990. CRISP, Colin. The Classic French Cinema: 1930 – 1960. Bloomington, Indianapolis: Indyana University Press: 1993. DUBOIS, Philippe. Cinema, Vídeo, Godard. Trad.: Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004. ERIKSON. Erik H. Identidade: Juventude e Crise. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972. FERRO, M. “O Filme: uma contra-análise da sociedade?”. In: LE GOFF, J.; NORA, P. História: Novos Objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. ______. Cinema e História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. GILDEA, Robert. France Since 1945. New York: Oxford University Press, 2002. HAYWARD, Susan. French National Cinema. London, New York: Routledge, 2005. HILLIER, Jim. Cahiers du Cinéma – The 1950’s : Neo-realism, Hollywood, New Wave. Vol. 1. Cambrigde, Massachusetts: Harvard University Press, 1985. _______. Cahiers du Cinéma – 1960-1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating Hollywood. Vol. 2. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986. HITCHCOCK. William, I. France Restored – Cold War diplomacy and the quest for leadership in Europe, 1944-1954. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998. RENOIR, Jean. O Passado Vivo. Trad.: Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. ROSS, Kristin. Fast Cars, Clean Bodies – Decolonization and The Reordering of French Culture. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1996. SAVAGE, Jon. A Criação da Juventude: como o conceito de teenage revolucionou o século XX. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. TRUFFAUT, François. O Prazer dos Olhos: textos sobre cinema. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. VANOYE, F; GOLIOT-LÉTÉ. A. Ensaio Sobre a Análise Fílmica. Trad. Marina Appenzeller. Campinas, São Paulo: Papirus, 2012.
Artigo recebido em: 13 de Setembro de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014 123 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
TERRORISMO INTERNACIONAL E O ATENTADO À AMIA KARL SCHURSTER & DIEGO RODRIGUES DIAS DA LUZ**
RESUMO O objetivo desta pesquisa é analisar o atentado terrorista à AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina), em 1994, dentro do contexto do terrorismo internacional. Nessa perspectiva, queremos problematizar o que possibilitou a execução do atentado e as consequências que causou dentro da política e da sociedade argentina. Superada a Guerra Fria (1947-1991), sua geopolítica e as implicações da bipolaridade (Estados Unidos versus União Soviética) para a segurança e a defesa nacional das nações, cabem problematizar – principalmente no caso das nações emergentes, com interesses cada vez maiores nos grandes fluxos comerciais e na internacionalização das suas ações - as novas condições vigentes nas relações internacionais depois de 1991 (fim da União Soviética, emergência dos Estados Unidos como hiperpotência, reações assimétricas na periferia da globalização). Ao mesmo tempo em que avançam as novas condições de insegurança e incerteza, avança também, de forma paradoxal, a Globalização. O caráter multilateral das crises e a emergência do unilateralismo lançam suas bases teóricas e políticas em antigos paradigmas do campo das Relações Internacionais e promovem compreensões diferenciadas das novas condições vigentes nas relações internacionais pós-1991. Portanto, inserir o atentado a AMIA dentro de um contexto macro, que possibilite sua existência no cenário internacional é parte fundante de nosso trabalho. PALAVRAS-CHAVE: Argentina, Terrorismo, AMIA.
ABSTRACT The objective of this research is to analyze the terrorist attack on the AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) in 1994, within the context of international terrorism. In this perspective, we want to discuss how was possible the execution of the attack and the consequences caused in Argentine politics and society. Overcome the Cold War (1947-1991), its geopolitical and implications of bipolarity (United States versus the Soviet Union) for security and national defense of nations, we may problematize - especially in the case of emerging nations, with increasing interest in large trade flows and the internationalization of their actions - the new conditions prevailing in international relations after 1991 (end of the Soviet Union, the emergence of the United States as a superpower, asymmetric reactions at the periphery of globalization). While advancing the new conditions of insecurity and uncertainty, also advances, paradoxically, Globalization. The multilateral nature of the crisis and the emergence of unilateralism launch their theoretical and political bases in old paradigms of the field of international relations and promote different understandings of the new
Pós Doutor em História e Doutor em História Comparada pela UFRJ. Professor dos Programas de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Local Sustentável da UPE e Adjunto do Departamento de História da Universidade de Pernambuco. ** Historiador e pesquisador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da Universidade do Estado de Pernambuco – UPE.
124 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
prevailing conditions in international relations after 1991. So enter the AMIA attack within a macro context, which enables its existence on the international scene is a fundamental part of our work. KEYWORDS; Argentina, Terrorism, AMIA.
***
125 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Argentina durante 1989-1999.
Em 9 de Julho de 1989, Carlos Saúl Menem assumiu o cargo eletivo de presidente da Argentina, sucessor de Raúl Alfonsín, Menem marcou a história da argentina ao ser o primeiro sucessor constitucional desde 1928. O governo de Menem, foi marcado por muitos escândalos de corrupção e abuso de poder, nesse sentido analisamos a situação social de forma geral na Argentina durante esse período em que esteve no poder. Ao assumir o poder em 1989, Menem, encontra uma Argentina com uma economia afundada em dívidas externas, com inflação altíssima chegando a 200%, alto índice de desemprego, pouca credibilidade com o capital externo, escassez de investidores, uma moeda enfraquecida e uma grande tensão social. De modo geral, temos uma Argentina vivendo uma grave crise econômica, em que havia de encontrar uma solução rápida, uma forma de tentar estabilizar essa situação financeira. Desde sua chegada à presidência, Menem tratou logo de concentrar e potencializar seu poder. Para resolver a crise financeira emergente a qual tomou conta do país, conseguiu a aprovação de duas principais leis no congresso, a Lei de Reforma do Estado e a Lei de Emergência Econômica, a primeira declarava a necessidade de privatização de empresas estatais e delegou ao presidente a liberdade para escolher as empresas. A aprovação desta lei criou mecanismos e dispositivos para que as privatizações de empresas e negócios estatais fossem efetuadas totalmente ou parcialmente. Contanto que a empresa estivesse classificada como “sujeita a privatização” pelo poder executivo nacional, deixavam de existir meios legais que impedissem sua negociação. A lei de Emergência Econômica suspendia todo tipo de subsídios, privilégios e regimes de incentivo, e autorizava a demissão de funcionários estatais. Rapidamente duas grandes empresas estatais como a Entel (empresa de telefonia) e a Aerolíneas Argentinas foram privatizadas. Em pouco mais de um ano várias outras empresas de rede viária, canais televisivos, ferrovias e áreas petrolíferas foram privatizadas. Menem conseguiu também a aprovação no Congresso da criação de mais quatro vagas para juízes na Suprema Corte. Com a maioria dos votos ao seu lado, ele impediria qualquer decisão contrária à sua vontade reformista. As leis criadas e aprovadas como medidas orientadas para a solução do caos econômico, já havia estendido expressivamente o poder da presidência. A ampliação dos membros da Suprema Corte garantia uma maioria favorável ao governo no poder 126 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
judiciário. Desta forma, Menem adotou diversas medidas em que a Suprema Corte decidia a seu favor, chegando a passar por cima de juízes e câmaras, por meio do recurso do per saltum.1 A nova política econômica de Menem se desenvolvia no mesmo cenário deixado pelo governo Alfonsín: alto índice de inflação e desorganização econômica. Seguindo os postulados do Consenso de Washington2, Menem precisava restabelecer a estabilidade econômica e obter um equilíbrio na balança de pagamentos. Então o presidente selecionou alguns pontos do Consenso de Washington e iniciou a sua implantação. O governo desvalorizou o austral em quase 100%, ajustou as tarifas dos serviços públicos e dos combustíveis e aumentou os salários abaixo da taxa de inflação. Outro ponto do Consenso de Washington posto em prática por Menem, foi a privatização das empresas estatais. Para firmar sua aliança com a elite empresarial, Carlos Menem nomeia Maria Julia Alsogaray como a responsável por conduzir as privatizações. Filha de Álvaro Alsogaray, um importante banqueiro argentino, Maria Julia Alsogaray foi nomeada para ser representante dos empresários no governo. Empresários locais, operadores internacionais e banqueiros que possuíam títulos da dívida externa participaram da compra das estatais, obtendo tarifas menores, menor regulamentação e monopólio durante alguns anos. Entretanto, a larga corrupção que cercava grande parte dos processos de privatização no país ficava evidente no decorrer da maturação desse esquema de privatições. Os dois primeiros anos de governo Menem não foram tão significativos, pois não trouxeram os resultados esperado para amenizar a crise econômica argentina. As privatizações foram realizadas com o único objetivo de fazer caixa. O “Plano Bonex”3 que fora articulado pelo ministro da economia, Erman Gonzalez, juntamente com os conselheiros dos bancos credores e de Álvaro Alsogaray. A utilização de uma velha receita, baseada na contenção de gastos para o controle inflacionário, provocou uma recessão fortíssima no país e reestruturou a dívida externa do país. Além disso, o
1
Per saltum foi um mecanismo jurídico utilizado pelo poder executivo durante o governo Menem. Dessa forma Menem conseguia a aprovação de leis e decretos, passando por cima do Legislativo. Ver: ROMERO, Luis Alberto. Op. cit, pg 263. 2 Consenso de Washington, con junto de medidas básicas fundado em 1989 por economistas de instituições finaceiras de Washington para ajustamento econômico de países em desenvolvimento que passavam por dificuldades econômicas. Para mais detalhes vide: Washington Consensus, Center for International Development at Havard University. 3 Plano Bonex, bloqueio de liquidez na economia Argentina durante 1990.
127 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
governo se fragiliza com o caso do “Swiftgate”4. Os ministros Eduardo Bauzá e Roberto Dromi, juntamente com Maria Julia Alsogaray, foram acusados de se beneficiarem das privatizações. O desgaste político foi tamanho, a ponto de diversos ministros serem retirados do cargo, levando Domingo Cavallo ao posto de ministro da economia em 1991 (após a renuncia de Antonio Erman Gonzalez). Como Ministro da Economia do governo Menem, Domingo Cavallo, propôs e conseguiu a aprovação da Lei de Conversibilidade, que estabelecia a paridade cambial fixa, em abril de 1991. Além dessa lei, foi estabelecida uma redução geral das tarifas, concretizando, por fim, a abertura econômica do país ao mercado externo. As tarifas caíram, e os resultados imediatos dessa medida foram o fim da fuga de capital nacional para o dólar, o reingresso de capitais emigrados, a redução da taxa de juros, a queda da inflação e o reaquecimento da economia. Para tranqüilizar os investidores, foi adotado também o Plano Brady5, em abril de 1992. Graças a todas estas modificações e planos econômicos, a Argentina consegue recuperar a confiança dos investidores. O Estado melhorou a arrecadação de impostos, recebeu uma quantidade expressiva de empréstimos e investimentos do exterior e o consumo aumentou. Entre 1991 e 1994, entrou no país um volume considerável de dólares, a ponto de o governo saldar seus déficits e das grandes empresas se reequiparem. A venda das empresas estatais continuou, todavia, nas privatizações das empresas de eletricidade, água e gás, foram garantidos mecanismos de controle, concorrência e venda de ações a particulares. Responsável pelo petróleo argentino, a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), foi privatizada, mas com o Estado controlando parte das ações. Durante o segundo governo de Menem o desemprego e a dívida externa eram problemas para os quais já não se conseguia encontrar soluções. Apesar da crise mexicana, as empresas nacionais conseguiram se recuperar, devido aos créditos no mercado internacional, e o PIB, que recuou em 1995, se recuperou e manteve o crescimento nos anos seguintes. Em relação à política externa, a Argentina também foi utilizada como um instrumento estabelecimento ou consolidação de alianças internacionais. O governo realizou um novo conjunto de alianças externas com a OTAN e, especialmente, com os Estados Unidos. A aproximação com os EUA implicou a modificação dos votos da 4
Escândalo de corrupção que causou a renuncia do ministro da economia Erman Gonzalez. Plano Brady, plano de reestruturação da dívida externa de alguns países, criado na década de 80 pelo secretário do tesouro americano Nicholas F. Brady. 5
128 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Argentina nas Nações Unidas com vistas a aproximar-se dos votos norte-americanos sobre temas como a integração ao Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis em 1991, a assinatura do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, a participação na Guerra do Golfo e em algumas operações de paz da ONU. Ao se tornar aliada dos EUA, a Argentina passou a ser favorável à resolução que propunha o envio de uma comissão para investigar a situação dos direitos humanos em Cuba. Outro episódio que ilustra esta aproximação foi logo após o golpe militar no Haiti, em 1991, o governo decretou um embargo naval, objetivando pressionar o governo militar para o retorno da democracia, enviando navios de guerra para o país, acompanhando os EUA e o Conselho de Segurança da ONU. Isto reflete um comportamento de aproximação da posição norte-americana e oposição aos demais países latino americanos, contrários a qualquer ameaça de guerra. Menem manteve vínculos pessoais com os presidentes americanos, George Bush e Bill Clinton, sempre recorrendo a eles em busca de apoio e ajuda. Também tratou logo de iniciar as negociações com a Inglaterra devido a Guerras das Malvinas e finalizar acordos fronteiriços com o Chile. Terrorismo Internacional. O terrorismo é um tema que aparece com uma razoável frequência nas mídias globais. Principalmente após o ocorrido em 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, a temática entrou em evidência na esfera das Relações Internacionais, as quais acompanharam os primórdios da política de “guerra contra o terror”, promovida pelos Estados Unidos. Uma das questões centrais na discussão sobre a noção de “guerra contra o terror” seria a definição do inimigo, levando em conta uma problemática de como classificar o terrorismo. Esta questão problematiza sua definição visto que não há uma conceituação oficial dos órgãos internacionais sobre o assunto. Várias nações e instituições mostram diferentes pontos de vista e até mesmo seus departamentos internos possuem posições discordantes. O terrorismo internacional, apesar de não te uma conceituação consensual, ele tem características próprias, as quais podem ser analisadas e classificadas dentro de uma temática de conflito global, que seria nesse caso, a Guerra Assimétrica. Existem outros exemplos e formas de guerra assimétrica, não é uma exclusividade do terror, contudo, o nosso foco nesse trabalho se restringe ao terrorismo. Em relação a guerra assimétrica, 129 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
podemos dizer que se caracteriza em “...ataques surpresas, seguidos de retiradas; recusa em dar combate em situação de inferioridade; escaramuças; batalhas seletivas, sabotagem, etc...” (TEIXEIRA DA SILVA, 2010) Os exemplos mais comuns dessa assimetria, são as guerrilhas e o terrorismo internacional, que se distinguem em larga medida da guerra convencional. De acordo com uma analogia feita entre Guerra Convencional e Guerra Assimétrica (pondo em evidência as Guerrilhas e o Terrorismo) feita por Lapsky, em sua dissertação de mestrado, com base nos autores Gerard Chaliand e Arnaud Blin, há uma certa tipologia atribuída ao terrorismo internacional, não em relação a conceito, mas em relação a caracterização dos atos terroristas pela perspectiva do universo da guerra assimétrica:
1. Tamanho das unidades em batalha: as unidades utilizadas nas guerras convencionais são compostas por exércitos (em torno de 60.000 – 100.000 pessoas), corpos de exércitos (30.000 – 80.000) e divisões (10.000 – 20.000). Já as guerrilhas são compostas por batalhões (em torno de 300 – 1000 pessoas), companhias (70 – 250) e pelotões (25 – 60), enquanto o terrorismo contém poucas pessoas, geralmente menos de 10 pessoas. 2. Armas utilizadas: nas guerras convencionais é utilizado todo aparato de armas militares como aviões, navios, artilharia, canhões de artilharia, morteiros, até armas utilizadas pelos soldados como rifles, metralhadoras e pistolas. Já nas guerrilhas utilizam-se armas leves e alguns objetos de artilharia, como os morteiros, enquanto no terrorismo são utilizadas armas de fácil porte (granadas, rifles de assalto e pistolas) e as especializadas, como carros-bomba. 3. Táticas: As operações conjuntas, envolvendo diversas unidades militares, são características das guerras convencionais, enquanto nas guerrilhas são realizados confrontos isolados. O terrorismo utiliza elementos como o seqüestro, assassinato, explosões de carros e barricadas de reféns. 4. Alvos: nas guerras convencionais, os alvos são unidades militares e infraestrutura, como transporte e comunicações para derrubar o inimigo. Já nas guerrilhas, os alvos são militares, policiais, membros administrativos e oposição política. No terrorismo os alvos são símbolos estatais, oposição política e, principalmente, o público em larga escala.
130 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
5. Objetivos: a destruição física é a principal meta das guerras convencionais, enquanto o desgaste do inimigo é o esperado pelas guerrilhas. No terrorismo a coerção psicológica é o elemento chave dos ataques. 6. Controle do território: enquanto nas guerras convencionais e nas guerrilhas existe o objetivo de controlar o território, no terrorismo, não há este elemento. 7. Uniforme: em guerras convencionais, os combatentes são identificados através de seus uniformes, compostos pelas diversas insígnias que formam a hierarquia militar, enquanto na guerrilha, o uniforme não é uma peça fundamental nas batalhas. No terrorismo, não há uso de uniforme, impossibilitando a diferenciação entre combatentes e não combatentes no campo de batalha. 8. Campo de batalha: nas guerras convencionais, o confronte é limitado a uma área geográfica, geralmente fora do alcance da população. Nas guerrilhas, o confronto é limitado no(s) país(es) em conflito, enquanto no terrorismo o campo de batalha não tem limite e as operações são realizadas em qualquer lugar do mundo. 9. Legislação internacional: as guerras convencionais e as guerrilhas possuem regras pré-estabelecidas pelos órgãos internacionais, enquanto o terrorismo ainda não é regulado, devido dificuldade de conceituação deste tipo de conflito. O terrorismo possui uma grande vantagem para seus praticantes: baixo custo, aliado a grande devastação e operação simples (comparado ao planejamento de uma ação de forças armadas), levando grupos dissidentes a utilizar esta tática para atingir determinados objetivos, contra forças maiores e/ou mais potentes. Então, podemos partir do princípio que tal prática pode ser reconhecida e classificada de acordo com os tópicos apresentados acima. Com a ascensão dos conflitos assimétricos, principalmente a partir dos anos 1990, fica mais evidente a caracterização do ato terrorista seguindo a ideia apresentada. Apesar de ser difícil a conceituação do termo terrorismo, essa dificuldade torna necessário a identificação dos atos terroristas, os quais mostramos ser possíveis de identificar e classificar, tendo como base essas teorias de assimetria global e a análise do objeto de estudo (no nosso caso o atentado à AMIA).
131 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
O caso AMIA.
Por volta das 10 horas da manhã do dia 18 de Julho de 1994, ocorreu um dos atentados, o qual no momento foi reconhecido como o mais terrível da história do terrorismo internacional (tendo em vista que os ataques do 11 de Setembro não tinham acontecido). Foi precisamente nesta data que houve atentado terrorista de maior dimensão da história da América Latina. Dois estrondos marcaram as vítimas do ataque, o primeiro foi a explosão do carro-bomba que fora lançado contra o edifício onde se localizava a instituição AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina), o segundo estrondo foi aquele que marcou o momento em que desabou o edifício de sete andares, o qual fora a sede da AMIA. Mais de 300 pessoas feridas e 85 mortos foram os números dos danos causados pelo ataque, o qual ainda não achou os responsáveis. A AMIA é uma instituição não governamental que tem por finalidade manter, investir, incentivar e difundir a cultura e religião judaica dentro do território argentino. Embora não se saiba o porquê de ter se tornado alvo de um atentado terrorista, a AMIA não foi o único alvo ligado a Israel que foi vítima de um ato terrorista dentro da Argentina. Em 17 de Março de 1992, ocorreu um atentado à Embaixada israelense na Argentina, embora tenha sido um ataque de menor proporção, comparado à AMIA, o ataque a embaixada de Israel causou a morte de 29 pessoas e deixou 242 feridos. De modo similar ao caso AMIA, o ataque a embaixada também não encontrou seus responsáveis, 22 anos do ataque à embaixada e 20 anos do ataque à AMIA, e ainda não se tem comprovação da responsabilidade de ambos os atentados. Suspeita-se que os autores do primeiro atentado sejam os mesmos do segundo atentado, gerando uma possível ligação entre os dois ataques. Vinte anos do atentado à AMIA, e as investigações levaram a lugar nenhum. Em meio a várias suspeitas, fraudes e testemunhos perdidos, a investigação se arrasta até hoje. Já foram acusados membros do governo do Irã, que a princípio foram apontados como os autores do ataque, mesmo o governo iraniano negando qualquer envolvimento no ataque. Dentre vários anos de investigação, foram acusados também de participação no ataque o ex-presidente argentino Carlos Menem, pois foi justamente durante seu governo que aconteceu o ataque, não apenas à AMIA, mas a embaixada também. Menem é acusado de ter feito acordos com membros do governo iraniano durante seu mandato, e devido a uma dívida não paga pelo presidente, o atentado teria sido uma 132 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
forma de retaliação ao não pagamento da dívida. Ele ainda é acusado pelo recebimento de 10 milhões de reais do governo iraniano para facilitar a execução do atentado, além de ser suspeito de receber apoio financeiro e político do governo iraniano durante sua campanha eleitoral. Apesar de várias acusações contra Carlos Menem, em relação ao caso AMIA, não foi possível comprovar seu envolvimento no atentado. Além do ex-presidente Carlos Menem, também foram acusados de envolvimento o juiz responsável pela investigação, o Juan José Galeano, além de outros funcionários do próprio governo argentino como o chefe de polícia de Buenos Aires, Juan José Ribelli, como também o chefe do serviço de inteligência argentino (SIDE), Hugo Anzorreguy. Vários outros funcionários do governo argentino foram suspeitos e investigados, foram mais de 1500 pessoas interrogadas. Podemos perceber claramente que houve participação interna no ataque à AMIA. Temos que levar em consideração também o governo da época, em que o presidente Carlos Menem, exerceu um papel fundamental numa grande rede de corrupção criada por ele mesmo em associação com funcionários do governo, instituições privadas e agentes de polícia, isso torna o ambiente favorável para atos terroristas. Além da existência de uma extrema direita influenciada pelo fascismo difundido durante a Segunda Guerra e que está enraizado na sociedade argentina, isso pode ser confirmado com o grande número de sites neofascistas, que propagam suas idéias através do espaço virtual da internet. Além de sites, também existem muitos grupos musicais neofascistas que espalham seus pensamentos através de suas letras. Isso também contribui para um ambiente favorável ao terrorismo, afinal grupos neofascistas são extremistas assim como os grupos terroristas, inclusive há casos em que grupos fascistas se tornam terroristas, pois são levados pelo seu pensamento extremista. O Impacto no cenário internacional. Em relação às Relações Internacionais, um tema que se tornou foco de debate foi a questão da zona fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai. A região conhecida como Tríplice Fronteira, envolve as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), que juntas somam mais de 500 mil habitantes. Nessa região há a presença de um grande contingente de imigrantes de origem árabe, 133 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
muitos que saíram fugidos de conflitos que eclodiram no Oriente Médio após a Segunda Guerra Mundial. Há uma grande suspeita de fonte de financiamentos para o terrorismo internacional vindos dessa zona, a grande variedade de nacionalidades, como sírios, egípcios, palestinos, jordanianos e libaneses, torna possível a presença e talvez associação de agentes de alguns grupos terroristas internacionais como Hizballah, Jihad Islâmica, Gama’a al-Islamiyya, Hamas e Al-Qaida. O fato dessa zona ser de natureza fronteiriça torna difícil saber a quem pertence a jurisdição de algumas áreas, o que tornou necessário conferências internacionais sobre segurança nacional e relações multilaterais entre os três países e os Estados Unidos. O atentado à embaixada israelense e sequencialmente o atentado à AMIA, ambos ocorridos na Argentina, geraram maior preocupação em relação a questão da Tríplice Fronteira. Segundo o Arthur Bernardes do Amaral em seu texto “O problema do terrorismo internacional na América do Sul e a Tríplice Fronteira: histórico e recomendações.”, após o 11 de Setembro os debates entre Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos foram focados para um novo mecanismo de segurança da Tríplice Fronteira chamado de Grupo 3+1, trata-se de um foro de caráter informal que reúne autoridades governamentais dos quatro países com o intuito de estruturar uma forma comum de coordenação e consulta dotada de três objetivos principais: facilitar e dinamizar o intercâmbio e compartilhamento de informações; desenvolver e articular políticas de segurança coordenadas regionalmente para a zona da fronteira tríplice; elaborar documentos públicos assinados de comum acordo pelos quatro governos nacionais envolvidos, nos quais se expressa a postura oficial e o consenso dos membros do grupo sobre o tema terrorismo internacional na região.
BIBLIOGRAFIA
COSTA, Jessica Ausier da. Argentina en la lucha contra el terrorismo. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica Boletim do TEMPO, Ano 3, Nº18, Rio, 2008. LAPSKY, Igor. A popularização da guerra através do cinema: uma análise comparada dos terroristas antes e depois do 11 de Setembro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Programa de Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC). Rio de Janeiro. Brasil. 2012. RAMONET, Ignacio. Guerras do Século XXI. Petrópolis: Vozes, 2003.
134 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ROMERO, Luis Alberto. História Contemporânea da Argentina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; CHAVES, Daniel Santiago. Terrorismo na América do Sul: uma ótica brasileira. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010. SOARES, Luiz Carlos; SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Reflexões sobre a Guerra. Rio de Janeiro: 7 Letras, 200. Artigo recebido em: 12 de Agosto de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
135 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
DESBRAVANDO O “CORAÇÃO DAS TREVAS”: VISÕES SOBRE O NEOCOLONIALISMO EUROPEU, A ÁFRICA E OS AFRICANOS NA OBRA DE JOSEPH CONRAD WAGNER PINHEIRO PEREIRA
RESUMO O presente artigo pretende realizar uma análise dos imaginários, mitos e representações da África e dos africanos consolidados pelo neocolonialismo europeu no continente africano durante o século XIX e que estiveram presentes na trama do romance literário “Coração das Trevas” (1902) de Joseph Conrad. PALAVRAS-CHAVES: África; Coração das Trevas; Neocolonialismo Europeu. ABSTRACT This article intends to conduct an analysis of the imaginary, myths and representations of Africa and Africans consolidated by European neocolonialism in Africa during the nineteenth century and that were present in the plot of the literary novel “Heart of Darkness” (1902) by Joseph Conrad. KEYWORDS: Africa, Heart of Darkness; European Neocolonialism.
***
O presente texto faz parte do projeto do módulo de curso “África: Imaginários, Mitos e Representações”, que contou com bolsa de pesquisa da Fundação CECIERJ. Professor Adjunto de História das Américas e História do Audiovisual nos cursos de graduação de Bacharelado em História e de Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IH/PPGHC-UFRJ). Coordenador do grupo do Laboratório de Estudos Históricos e Midiáticos das Américas e da Europa (LEHMAE) e pesquisador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente – Universidade Federal do Rio de Janeiro (TEMPO-UFRJ). Editor-Chefe da Revista Poder & Cultura. E-mail: wagnerpphistory@gmail.com
136 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Introdução “O curso do rio se abria diante de nós e depois se fechava à nossa passagem, como se a floresta cerrasse fileiras calmamente sobre as águas para barrar o nosso caminho de volta. Penetrávamos mais e mais fundo no coração das trevas. E o silêncio ali era imenso. À noite, vez por outra, o toque dos tambores ocultos pela cortina de árvores se estendia rio acima e permanecia debilmente suspenso, como que pairando no ar sobre as nossas cabeças, até o raiar do dia. Se significava guerra, paz ou oração, não tínhamos como saber. Pouco antes da aurora, baixava uma fria quietude; os lenhadores dormiam, suas fogueiras ardiam muito fracas; qualquer galho partido causava um sobressalto. Viajávamos pela Terra préhistórica, uma Terra que tinha o aspecto de um planeta desconhecido. Era possível nos imaginarmos como os primeiros homens tomando posse de uma herança maldita, uma herança que precisavam domar ao preço de uma angústia profunda e de um labor infindável. Mas de tempos em tempos, quando fazíamos uma curva do rio, percebíamos um vislumbre de uma paliçada de junco, tetos de palha em ponta, uma irrupção de gritos, um redemoinho de membros negros, incontáveis mãos batendo palmas, pés golpeando o chão, corpos em movimento, os olhos girando nas órbitas, sob a cobertura de uma folhagem pesada e imóvel. O vapor avançava a custo, bem devagar, ao longo das bordas de um frenesi negro e incompreensível. O homem pré-histórico nos amaldiçoava, rezava para nós, dava-nos boas-vindas – quem saberia dizer? A compreensão do que nos cercava fugia do nosso alcance; avançávamos deslizando como fantasmas, admirados e intimamente assustados, a reação de qualquer homem sensato diante de uma irrupção exaltada entre os pacientes de um hospício. Não tínhamos como compreender porque havíamos ido longe demais, e não tínhamos como recordar porque atravessávamos a noite das primeiras eras, as eras que não nos deixaram sinal algum – e nenhuma memória. A Terra era irreconhecível. Estamos acostumados a contemplar a forma agrilhoada de um monstro vencido, mas ali – ali podíamos ver a monstruosidade à solta. Não era uma coisa deste mundo, e os homens... Não, não eram desumanos. Bem, vocês sabem, era isso o pior de tudo – essa desconfiança de que não fossem desumanos. Era uma ideia que nos ocorria aos poucos. Eles berravam, saltavam, rodopiavam e faziam caretas horríveis; mas o que mais impressionava era a simples ideia de que eram dotados de uma humanidade – como a nossa – a ideia de nosso parentesco remoto com toda aquela comoção selvagem e passional. Feia. Sim, era muito feia; mas você, se for homem bastante reconhece intimamente no fundo de si um vestígio ainda que tênue de resposta à terrível franqueza daquele som, uma suspeita vaga de que haja ali um significado que você – você, tão distante da noite das primeiras eras – talvez seja capaz de compreender. E por que não? O espírito do homem tudo pode – porque tudo está contido nele, tanto a totalidade do passado como o futuro inteiro”6. Joseph Conrad. Coração das Trevas (1902)
A passagem acima, extraída do romance Coração das Trevas (Heart of Darkness), escrito por Joseph Conrad7 e publicado pela primeira vez em formato de
6
CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.58-59. Józef Teodor Nałęcz Korzeniowski (seu nome de batismo) nasceu em 3 de dezembro de 1857, na cidade de Berdyczew, na Ucrânia, que na época encontrava-se submetida à Rússia. O seu pai era um nacionalista polonês que, devido às suas atividades políticas, foi desterrado para a Ucrânia, onde sua família pertencia à minoria étnica polonesa que possuía grandes propriedades rurais e encarnava um nacionalismo polonês de fundamento feudal. Joseph Conrad só aprendeu inglês aos vinte anos e a sua segunda língua foi o francês. Órfão aos onze anos ficou sob a tutela do tio. Em 1874 partiu para Marselha onde se alistou na marinha. Em 1886 obteve o masters Certificate e a nacionalidade britânica. As suas experiências no Oriente foram tema de inspiração de muitos dos seus romances. “Aristocrata desclassificado como colonizado, polonês nascido fora da Polônia, francófilo frustrado no seu projeto de se estabelecer na 7
137 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
livro em 19028, evidencia a relação de fascínio/medo com a qual o protagonista e narrador da trama, o inglês Charles Marlow – funcionário de uma companhia de comércio belga vendedora de marfim, contratado como capitão de um barco a vapor responsável por transportar marfim num rio africano9 e incumbido da missão de resgatar o chefe de posto conhecido por Sr. Kurtz – refere-se ao mergulhar em sua viagem pelo coração sombrio da selva africana e das perversões mais profundas do projeto de exploração colonial europeu, entrando em contato com este “Novo Mundo” representado pelo continente africano. De um lado, um mundo misterioso, selvagem e assustador. Do outro, fascinante no seu aspecto abominável, no desespero que advém do inexplicável. Em tal pantanal selvagem, imprecações racionais e informações definidas França, tripulante de navios de outras nações nos mares do mundo, Conrad se fixara em Londres, naturalizando-se inglês. Dominando o idioma da mais dominadora das potências, ele podia refletir sobre as hierarquias do poder político e das identidades numa época de interpretação cientificística das culturas e de reescalonamento das nacionalidades. Podia escrever sobre a afirmação nacional que fundamenta a sujeição de outros povos e sobre a afirmação do ser baseada na desumanização do outro. Podia escrever fundado na subjetividade de sua experiência, mas à sua maneira”. (ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Persistência de Trevas”. In: CONRAD, Op.cit., pp.166-167.) Em 1890 abandonou a marinha para se dedicar inteiramente à literatura. Em 1895 publicou o seu primeiro romance, A Loucura de Almery. Em Um Vagabundo das Ilhas, do ano seguinte, debruçou-se sobre as diferenças raciais. Continuou a escrever, mas só com a publicação de Chance, em 1913, viria a tornar-se famoso. Criticando o colonialismo e convencido de que até os elevados ideais têm em si a semente da corrupção, foi um mestre no esboço de personagens, manifestando grande domínio da linguagem e singular vigor narrativo. Joseph Conrad notabilizou-se como um dos melhores prosadores de língua inglesa, através das suas histórias, em que se conjuga a aventura romântica e a reflexão moral. Em Coração das Trevas o escritor evoca o espírito da África Negra, e através do personagem de Kurtz, um misterioso negociante branco, mostra que no homem civilizado permanecem os impulsos mais selvagens e destrutivos. Além de refletir sobre o choque entre as duas culturas – os colonizados africanos e os colonizadores europeus –, esta obra conduz o leitor às “trevas” da selva africana e simultaneamente do coração humano. Conrad morreu em Kent em 1924. Cf. Informações extraídas das seguintes obras: CONRAD, Joseph. O Coração das Trevas. Editorial Estampa/BIBLIOTEX, S. L./ ABRIL/CONTROLJORNAL, 2000. Nota Biobibliográfica.; ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Persistência de Trevas”. In: CONRAD, 2008, Nota 24 – pp.166-167. 8 O texto foi escrito em poucas semanas e foi inicialmente publicado em três partes na revista mensal britânica Blackwood’s Magazine, nos meses de fevereiro, março e abril de 1899, com o título The heart of darkness. Segundo Luiz Felipe Alencastro, “a Blackwood’s Magazine era uma revista conservadora, lida por agentes coloniais ingleses e, em geral, por leitores familiarizados com o contexto imperial britânico”. (ALENCASTRO, Op.cit., nota 14 – p.161.) Em 1902, ao publicar a novela em livro, Joseph Conrad alterou o título para Heart of darkness, incluindo ainda outras duas novelas, Youth: a narrative e The end of the tether. 9 Embora Joseph Conrad não identifique o rio, tratava-se do grande e importante rio Congo, localizado na região da África Central que pela Conferência de Berlim de 1885 as potências europeias concederam a soberania, a título privado, ao rei Leopoldo II da Bélgica. Assim, nascia o Estado Livre do Congo, que, em 1908, foi transformado em colônia belga até tornar-se independente em 30 de junho de 1960. Em 27 de outubro de 1971 foi adotado o novo nome do Estado, com a proclamação oficial da República do Zaire. Este nome e os novos símbolos nacionais mantiveram-se até 1996, quando em finais da Primeira Guerra do Congo o ditador Mobutu Joseph Désiré foi derrubado e fugiu do país. Laurent-Désiré Kabila assumiu a presidência e proclamou, em 17 de maio de 1997, a República Democrática do Congo. Cf. ALENCASTRO, Op.cit., nota 11 – p.159. Sobre o tema ver também: BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África negra: 1880-1914. (São Paulo: Ed. Perspectiva, 1974.); WESSELING, Henk. Dividir para Dominar: a partilha da África 1880-1914. (Rio de Janeiro: EdUFRJ/Revan, 1998.); HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do Rei Leopoldo: uma história de cobiça, terror e heroísmo na África colonial. (São Paulo: Cia das Letras, 2008.)
138 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
pelo discurso histórico não significam nada. Nesse ponto, o narrador de Joseph Conrad descreve com pertinente sobriedade a viagem “civilizatória” como um voltar no tempo. Nesse novo mundo antigo, Marlow deixa claro que ele e seus companheiros eram “viajantes numa terra pré-histórica que possuía o aspecto de um planeta desconhecido”. A partir dessa colocação, percebemos em toda a narrativa de Marlow uma descrição fiel à obscura sensação de tocar o que não é facilmente reconhecível. Interessa também o fato de que o seu relato demonstra como o continente africano não é apenas outro lugar, um lugar distante e desconhecido, e sim um território completamente à parte de qualquer conhecimento ou experiência que o homem branco teria experimentado até então. Sua estranheza diante da terra misteriosa não é atípica, pois reflete o profundo desconhecimento de um homem que pertence a uma sociedade detentora também de seus medos e crenças. Tal sociedade, responsável pelo terror que todo processo civilizatório representa aos povos conquistados, também é aterrorizada pela escuridão da selva, pelo estranhamento cultural e territorial que seu ato de colonizar precisa dominar.
Figura 1: O escritor Joseph Conrad. Figura 2: Capa da Blackwood’s Magazine (fev. 1899), revista mensal britânica que publicou em três partes o texto original de The Heart of Darkness.
Este tema é abordado no livro Os Olhos do Império: relatos de viagem e transculturação [1992], de autoria de Mary Louise Pratt10, especialista canadense em Literatura Contemporânea, que procura desvendar não apenas os mecanismos ideológicos e semânticos por meio dos quais os viajantes europeus, a partir de meados do século XVIII, criaram um novo campo discursivo, forjando uma consciência
10
PRATT, Mary Louise. Os Olhos do Império. Relatos de Viagem e Transculturação. Bauru: Edusc, 1999.
139 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
planetária a respeito do outro colonial e suas culturas, mas também busca associar estes escritos e seus tropos às diferentes fases do expansionismo capitalista e suas conquistas dos territórios interiores do mundo colonial. Ao analisar a literatura de viagem relativa à África (em especial a realizada por Mungo Park e relatada em seu livro Travels in the Interior of Africa, publicado em 1799) no momento em que os europeus lutavam por superar os obstáculos que se antepunham à conquista do território interior do continente, possibilitando o enraizamento dos interesses políticos e comerciais, a autora aponta que essa literatura reflete um empreendimento narrativo, de caráter cumulativo e organizacional, na qual a geografia é minuciosamente documentada e o mundo humano naturalizado. Da mesma forma em que foi apresentado na passagem do texto de Coração das Trevas, os relatos dos viajantes descrevem a paisagem africana como inabitada, devoluta, sem história e desocupada, até mesmo pelo próprio viajante. A atividade de descrever a geografia e identificar a flora e a fauna estrutura uma narrativa a-social em que a presença europeia ou nativa é absolutamente marginal, ainda que fosse este, evidentemente, um aspecto constante e essencial da viagem em si. Neste sentido, conforme aponta Mary Louise Pratt, é fácil relacionar esta literatura e sua produção de um corpo sem discurso, desnudo e biologizado com a força de trabalho desenraizada, despojada e disponível criada pelo colonialismo. Nestas descrições, as mudanças são naturalizadas e descritas como lacunas, a historicidade das sociedades locais desaparece e o estado em que os viajantes encontram estas sociedades – muitas vezes já profundamente deterioradas pela influência colonial – é descrito como eterno e atemporal. Além disso, a autora utiliza conceitos como transculturação11 e zona de contato12 para reportar-se a um universo mais amplo, que é o da constituição de repertórios de símbolos, imagens e discursos que conformam um modo ou estilo cognitivo e um repertório semântico e imagético por meio do qual o “outro” colonial passa a ser abordado. Por seu turno, o viajante naturalista que lança mão da ciência se associa ao aparato estatal e panóptico da violência, absorvendo as ambições territoriais 11
O conceito de transculturação é entendido como um fenômeno da zona de contato e que se refere às apropriações dos materiais nativos pelos europeus, mas também à maneira pela qual os coloniais se apropriam dos estilos imperiais, construindo eles próprios modos de representação que, absorvidos pelo olhar imperial, constituem um universo cognitivo que passa a ser considerado como originalmente europeu. 12 O conceito de zona de contato é compreendido como sinônimo de fronteira cultural, enfatizando as dimensões interativas e improvisadas dos encontros coloniais, pondo em questão como os sujeitos coloniais são constituídos nas e pelas relações entre colonizadores e colonizados, ou viajantes e visitados, em termos de interação e trocas no interior de relações assimétricas de poder.
140 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
dos impérios e identificando a sua viagem sentimental (associada às qualidades da domesticidade, interioridade e privacidade) com a fase de tentativa da conquista da África e seus autores-viajantes com a missão civilizatória13. No Posfácio “Persistência de Trevas”, da edição do livro publicada pela Companhia das Letras, o historiador brasileiro Luiz Felipe de Alencastro afirma que Coração das Trevas na sua primeira parte trata da desumanização e violência engendradas pelo colonialismo europeu na África e, na segunda parte, da inquietação existencial e o desregramento de indivíduos confrontados com a ruptura dos laços sociais14. Por sua vez, considerado como uma crítica ao imperialismo por alguns ou como uma representação racista por outros, a maior parte da história de Coração das Trevas se passa em território do Congo sob o domínio belga, hoje República Democrática do Congo, revelando os contatos do homem europeu com o continente e povo africanos. Cabe ressaltar que em parte alguma do romance é mencionada que a aventura do personagem Marlow tenha ocorrido em território do Estado Independente do Congo, no entanto, pesquisas de cunho histórico15 identificam semelhanças entre a história narrada e os relatos da viagem que Conrad fez a então colônia belga anos antes de escrever o romance16. Como sugere o artigo de Chinua Achebe, “An Image of Africa: Racism in Conrad's Heart of Darkness”17, talvez por essa ausência de informação exata sobre a localização geográfica da trama é que sempre que se fala do
13
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. “PRATT, Mary Louise. Os Olhos do Império. Relatos de viagem e transculturação”. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.20, nº39, p.281-289, 2000. 14 ALENCASTRO, Op.cit., pp.157-158. 15 Ver: MURFIN, R. C. (Ed.). Case studies in contemporary criticism: Heart of darkness. Miami: Bedford Books of St. Martin Press, 1996. 16 Conforme relata o historiador Luiz Felipe Alencastro: “Durante seis meses, de 1890 para 1891, Conrad viveu na África Central, onde capitaneou um vapor com roda de pás (como as ‘gaiolas’ do rio São Francisco) no rio Congo. Desceu o curso entre Kisangani (antes chamada Stanleyville, o ‘Posto do Interior’ na novela) e Kinshasa (antes Leopoldville, ‘Posto Central’) trazendo passageiros e carga. Tinha 32 anos e estava a serviço da Société Anonyme Belge pour Le Commerce du Haut-Congo (a ‘Companhia’), sediada em Bruxelas. Para chegar ao Congo, ele embarcara em Bordeaux num vapor francês que se chamava Ville de Maceio. [...] Além de Conrad e de outros passageiros, o Ville de Maceio levava uma carga especial: os trilhos da primeira estrada de ferro da África Central. Marlow narra a truculência do trabalho forçado na ferrovia, construída por filas de negros acorrentados com ‘uma coleira de ferro no pescoço’. Terminada em 1898, a estrada de ferro seguia o trecho não navegável do rio, indo de Matadi (o ‘Posto Central da Companhia’), no Baixo Congo, porto fluvial aberto à navegação marítima, até Kinshasa, de onde já se podia navegar rio acima para Kisangani. Aproximando os vapores do Congo das grandes rotas marítimas, a ferrovia ampliava a logística da exploração colonial”. ALENCASTRO, Op.cit., pp.158-159. É importante apontar ainda que os temas abordados em Coração das Trevas estavam presentes já no texto Um posto avançado do progresso (1896), relato sobre sua viagem à África, que precede e prepara o enredo de Coração das Trevas. 17 ACHEBE, Chinua. “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness”. In: KIMBROUGH, Robert (Ed.). Heart of Darkness A Norton Critical Edition. New York: Norton, 1988: 251-262.
141 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
romance de Conrad, é a imagem do continente africano como um todo que entra em questão. “Coração das Trevas” e A Era do Neocolonialismo Europeu na África: O Encontro entre a História e a Literatura Coração das Trevas é indubitavelmente uma obra literária importante para o estudo dos imaginários, dos mitos e das representações da África e dos africanos. Ou seja, a literatura é entendida neste estudo como uma privilegiada fonte histórica, pois nela podemos observar como a linguagem traduz uma série de imagens, conceitos e representações do tempo que uma determinada obra foi escrita. A literatura, como toda a arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social. O artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades fatuais. Os fatos que manipulam não têm comparação com os da realidade concreta. São as verdades humanas gerais, que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem um retrato vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro. A Literatura é, assim, vida, parte da vida, não se admitindo possa haver um conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana18.
Os estudos sobre a relação “História e Literatura” tem realizado discussões acerca da validade da literatura enquanto fonte para as pesquisas históricas, assim como buscado delimitar as fronteiras que diferenciam os discursos históricos e literários. Tendo-se em vista que a literatura acompanha a mentalidade social do tempo histórico na qual uma determinada obra foi escrita, é possível encontrar já na Antiguidade a preocupação em refletir sobre as conexões entre História e Literatura. Por exemplo, no livro Arte Poética (provavelmente registrado entre os anos 335 a.C. e 323 a.C), considerado o primeiro escrito conhecido que procura especificamente analisar determinadas formas da arte e da literatura gregas em seu tempo, o filósofo grego Aristóteles procurara definir o que era poesia e o que era história, encontrando tal distinção não na forma da narrativa, mas na abordagem de cada uma destas:
18
COUTINHO, Afrânio. Notas de Teoria Literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. pp.9-10.
142 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa (pois que bem poderiam ser postos em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta o particular. Por “referir-se ao universal” entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza; e ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes às suas personagens; particular, pelo contrário, é o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu 19.
O debate sobre a importância da literatura nos estudos históricos prosseguiu em diversas correntes e pensamentos ao longo dos séculos. Mas foi no século XX, mais precisamente no ano de 1929, na França, que os historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch fundaram a Revue des Annales, promovendo uma renovação historiográfica longe da produção tradicional da História da época, herdeira dos pressupostos preconizados pela historiografia do século XIX que buscava produzir história tomando o fato, a verdade e a autoridade como fonte documental para a construção histórica. A Nova História, emergida daí, abriu um leque de utilização de novas fontes de pesquisas para uma abrangente produção historiográfica. Com isso, Lucien Febvre, precursor da História das Mentalidades, foi quem abarcou sensibilidade para o trabalho da fonte literária na História. No entanto, não deixou de advertir que a literatura no enfoque do real causa-lhe uma deformação por sua literalidade, uma utilização de signos linguísticos compostos por metáforas. Ela documenta o real de maneira objetiva, fiel, mas transfigura uma realidade vivida ou reinventada. Afinal, ela é um fenômeno cultural e histórico. A literatura tem como instrumento a palavra e esta produz diversas alternativas de sentidos e significados. O historiador francês Roger Chartier20 analisa a relação História e Literatura observando a modificação de seu significado através do tempo, sendo a mesma fundamental para qualquer trabalho que pretenda analisar fontes de origem literária. Em Literatura e Sociedade21, o crítico literário brasileiro Antonio Candido expõe a forte influência que a sociedade impõe sobre a literatura. Por acreditar que a literatura acompanha a mentalidade social do tempo histórico na qual uma
19
ARISTÓTELES. Arte poética. (Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de Souza). São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.451. 20 CHARTIER, Roger. Debate: Literatura e História, Topoi. Rio de Janeiro, nº 1, p. 197, 1997. 21 CANDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000.
143 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
determinada obra foi escrita, o autor afirma que a “literatura é o espelho da sociedade”. Segundo Antonio Candido, a literatura é uma linguagem carregada de significados. A estrutura interna do texto literário é composta pelas palavras, rimas, métrica e outros recursos formais. A estrutura externa é onde se encaixam os aspectos históricos, sociais e filológicos referentes ao texto. Deste modo, segundo o autor, os textos literários são históricos e só são escritos mediante às possibilidades de seu tempo histórico. Assim, o estudo da literatura pelo historiador deve se pautar na análise dialética destas duas estruturas, uma vez que a própria estética também é histórica. Nesta perspectiva, o historiador Nicolau Sevcenko, em A literatura como missão22, aborda como a literatura consolida uma regularidade social a partir do discurso. O historiador afirma que a linguagem se coloca no centro das atividades humanas como um todo; assim, ele acredita que as estruturas sociais são apontadas pelas obras literárias concernentes de seu próprio tempo histórico. Portanto, o papel do historiador que trabalha com literatura é expor as relações das obras tidas como fontes com o contexto histórico da problemática desenvolvida. Dentro desse contexto, podemos notar a importância das fontes literárias para os diversos fazeres históricos, mostrando também a pluralidade de formas como elas podem ser utilizadas. A partir do que fora exposto podemos perceber nitidamente que o discurso literário é polifônico e polissêmico, sincrônico e diacrônico, de modo que as possibilidades de trabalho com esta fonte são quase infinitas, o que justifica o historiador brasileiro Antônio Celso Ferreira considerar a literatura como uma fonte fecunda, rica de essência a ser explorada e possível de ser estudada pelo historiador. Além disso, o autor, recuperando a proposta de Marc Bloch, ressalta a importância de o historiador ter um enfoque interdisciplinar, dialogando com as mais diversas áreas do conhecimento e se utilizando das mais diversas fontes possíveis: Essa lembrança é essencial para o pesquisador que trabalha com textos literários, sobretudo os de ficção histórica. É certo que o caráter polifônico destes, pelo diálogo que estabelecem entre as diferentes vozes das personagens, além da voz do narrador, possibilita a investigação da complexidade do imaginário histórico, da diversidade das ideologias e dos modos como os diferentes indivíduos ou grupos sociais se inserem dentro dele em determinadas épocas. Contudo, tais representações constituem sempre um universo ficcional, por mais verossímil que seja. O papel do historiador é confrontá-las com outras fontes, ou seja, outros registros que permitam
22
SEVCENKO, Nicolau. A literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983.
144 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
a contextualização da obra, para assim se aproximar dos múltiplos significados da realidade histórica23.
Essas observações sobre a relação entre história e literatura são importantes para compreendermos como uma obra literária pode nos auxiliar na análise dos mitos, das imagens e das representações da África e dos africanos. No caso de Coração das trevas, levando em conta o perfil biográfico de Joseph Conrad, percebe-se que uma de suas características era criar, a partir de experiências extremas de amadurecimento, reflexões acerca da natureza humana. E, por ter se tornado um marinheiro e trabalhado em embarcações por muitos anos até se tornar capitão, muitos de seus livros narram algumas das vivências que as viagens lhe trouxeram. E foi em uma dessas viagens que, aos 32 anos, Conrad esteve no Congo e testemunhou as graves atrocidades que, ao longo de quarenta anos, enriqueceram a Europa (principalmente a Bélgica) e tiraram a vida de cinco milhões de negros na busca por riquezas como marfim, ouro, diamantes e borracha24. As cenas que viu o chocaram e a experiência o fez refletir mais sobre a essência do ser humano. Na verdade, entre a viagem de Conrad, em 1890, e a publicação de Coração das Trevas na Blackwood’s Magazine, em 1899, a percepção geral sobre a colonização do Congo havia se alterado. Denúncias de missionários e militantes comprometiam a empreitada do rei Leopoldo II na África Central. Nos últimos anos do século XIX, quando a principal riqueza, o marfim – obsessão dos agentes coloniais no conto e na novela –, foi substituída pela borracha, as atrocidades e o trabalho compulsório extorquido dos congoleses atingiram outro patamar. Inventando o processo de vulcanização, a borracha começou a ser usada em tubos, nos pneus das bicicletas (1888) e dos carros da nascente indústria automobilística (1896). Na passagem das vendas de marfim, extrativismo multissecular conectado a um mercado estável, às exportações de borracha, puxadas pela demanda crescente das novas indústrias, tudo havia mudado. Tirado de maneira predatória de cipós e plantas oleaginosas distintas da seringueira, o látex do Congo sofria a concorrência do produto amazonense e, em seguida, da borracha exportada das plantações de seringueira na Ásia. Daí o endurecimento da exploração dos congoleses25.
23
FERREIRA, Antonio Celso. “Literatura: a fonte fecunda”. In: PINSKY, Carla Bassanezi & LUCA, Tania Regina de. (Orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. p.77. 24 É importante destacar que o imperialismo ou neocolonialismo do século XIX foi consumado em nome dos ideais “de Civilização e de Progresso” e não mais em nome da “Evangelização”, como no colonialismo da época dos “Descobrimentos”, o que permitia a perfeita sintonia ideológica entre o papel da política imperialista (e seus agentes) e dos movimentos de expansão capitalista na África e na Ásia. Na Conferência Geográfica de Bruxelas de 1876, que Leopoldo II organizara para articular a campanha diplomática e financeira que lhe daria a posse do futuro Estado Livre do Congo, o rei da Bélgica declarou: “Abrir à civilização a única parte do globo onde ela ainda não penetrou, transpassar as trevas que envolvem populações inteiras, constitui, ouso dizer, uma cruzada digna deste século de progresso”. Cf. ROSER, Markus. “Pouvoirs et missions au Congo entre 1876 et 1908”. Colloque ColonisationÉvangélisation: lês relations entre lês pouvoirs coloniaux, lês pouvooirs locaux et lês missions, des Grandes Découvertes à la décolonisation”. Paris: Centre Roland Mousnier, Universidade de Paris IV Sorbonne, 13-15 de dezembro de 2007. Apud. ALENCASTRO, Op.cit., p.170. 25 ALENCASTRO, Op.cit., p.159.
145 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 3: Charge que enfatizava como os reformistas lembraram muitas vezes do acordo de Berlim de 1885, uma das promessas não cumpridas que foram feitas aos africanos, segundo recorda a legenda: “O APELO. ‘EM NOME DE DEUS TODO-PODEROSO. Todas as potências exercendo os seus direitos soberanos, ou tendo alguma influência sobre os ditos territórios, comprometem-se a cuidar da preservação das raças nativas e a melhorar as condições morais e materiais de sua existência’. Artigo VI. Acordo de Berlim. 1885”. Figura 4: Charge da Punch (1906) que mostra um africano sendo enroscado por uma cobra com a cabeça do rei Leopoldo da Bélgica. A legenda diz: “NAS MALHAS DA BORRACHA”. Figuras 5-7. A terrível face do imperialismo europeu sobre a África: caricaturas europeias criticando a opressão colonialista belga exercida pelo rei Leopoldo II (retratado diversas vezes entre pilhas de dinheiro e de crânios humanos) sobre o Congo, que foi transformado e representado como a sua propriedade privada.
O livro Coração das Trevas é ambientado no cenário histórico do progresso do capitalismo, da partilha europeia da África e da Ásia e da formação de novos impérios coloniais na segunda metade do século XIX. Segundo o historiador Héctor Bruit: Este período (1870-1914) ficou conhecido como imperialista e as causas desta expansão foram diversas. No entanto, todas se relacionam com o desenvolvimento do capitalismo industrial nos países imperialistas. Efetivamente, o desenvolvimento capitalista destes países, unido a um crescimento demográfico que se processava desde o século XVIII, significou uma transformação acelerada na estrutura econômica e nos hábitos sociais destes países. O desenvolvimento industrial ampliou a demanda de matérias-primas, muitas das quais se produziam em condições mais vantajosas fora da Europa e Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, o aumento na produção de artigos industriais ia ampliando a necessidade de mercados exteriores que consumissem os excedentes. Por outro lado, o crescimento das populações urbanas fez aumentar a demanda de alimentos, cuja
146 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
produção na Europa havia diminuído pelo êxodo rural ou simplesmente porque se tornara mais barato comprá-los em mercados externos26.
O fenômeno histórico do imperialismo é tema de importantes debates entre os historiadores desde a segunda metade do século XIX, apresentando uma série de características distintas e significativas para as análises históricas. Conforme ressalta Harry Magdoff: Embora haja grandes divergências de opiniões sobre as razões e importância do ‘novo imperialismo’, pouca discórdia há de que pelo menos dois fatos ocorridos em fins do século XIX e princípios do século XX prefiguraram uma nova orientação: 1) uma notável escalada na anexação de colônias; e 2) o aumento do número de potências coloniais27.
Com relação ao primeiro fato, o autor recorda que nos primeiros setenta e cinco anos do século XIX, foram incorporados pelos países imperialistas, cerca de 210.000 quilômetros quadrados por ano. Já entre 1870 e 1914 esse número aumentou para 620.000 quilômetros quadrados por ano, o que significa que 85% do planeta estava dominado às vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Sobre o segundo fato, embora desde os séculos XVI, XVII e XVIII houvesse cinco países europeus com grandes impérios coloniais – Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda –, por volta de 1870 surgiu uma nova forma de imperialismo, baseada no intercâmbio de manufaturas da metrópole por matérias-primas da colônia. Portanto, os países ricos passaram a encontrar novos consumidores para seus produtos industrializados. Formaram-se, assim, novas potencias colonizadoras no continente europeu – Alemanha, Itália e Bélgica – e desenvolveram-se dois impérios fora da Europa – Estados Unidos da América e Japão. O Reino Unido e a França aumentaram seus territórios; Holanda e Portugal mantiveram os seus; e a Espanha perdeu em decorrência de sua derrota na Guerra Hispano-Americana (1898) suas últimas colônias na América e na Ásia. Por sua vez, a emergência de novas potências industriais e imperialistas contribuiu para acelerar o ritmo das conquistas, aumentando assim as rivalidades, devido à limitação do espaço disponível. Isto se refletiu no recrudescimento do militarismo, assistindo-se a uma verdadeira corrida armamentista, que acabou levando ao conflito da Primeira Guerra Mundial. A historiografia tem procurado também compreender as raízes da natureza histórica do imperialismo. Em linhas gerais, durante muito tempo, as explicações 26 27
BRUIT, Héctor. O Imperialismo. São Paulo/Campinas: Atual/Editora da UNICAMP, 1987. p.05. MAGDOFF, Harry. Imperialismo: da Era Colonial ao Presente. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p.35.
147 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
historiográficas dividiram-se entre um enfoque econômico ou político. Todavia, segundo Harry Magdoff, Analistas sérios de ambos os lados da controvérsia reconhecem que estão envolvidos no caso grande número de fatores: os principais expoentes do imperialismo econômico admitem que estiveram também em jogo influências políticas, militares e ideológicas; analogamente, numerosos autores que questionam a tese do imperialismo econômico concordam em que os interesses econômicos desempenharam um papel significativo no particular. O problema, contudo, é o de atribuir prioridade às causas28.
Ao analisar os fatores econômicos que impulsionaram o imperialismo a partir da segunda metade do século XIX, ressaltou-se a mudança na atitude das potências europeias explicada principalmente pelas transformações verificadas no capitalismo após 1830. Com o crescimento da industrialização surgiram no capitalismo europeu crises cíclicas de superprodução, obrigando as nações industrializadas a buscar mercados externos para onde pudessem escoar o excedente da produção. Paralelamente, a superprodução aumentou os riscos de investir na indústria, tornando atraente o investimento em minas, plantações e serviços públicos nos países dominados. A Segunda Revolução Industrial (1850-1914), por sua vez, ampliou e diversificou a procura de matérias-primas, levando os países industriais a depender de produtos típicos da América Latina, Ásia e África. Além disso, o aumento da população europeia criou a necessidade de novas terras para onde pudesse ser escoada a mão-deobra excedente, mantendo-se sua utilização em benefício do país de origem. Por fim, o operariado europeu, insatisfeito com suas precárias condições de vida e de trabalho, agitava a Europa comandando inúmeros movimentos sociais. Os governos europeus perceberam que a exploração colonial poderia possibilitar uma melhora no padrão de vida da classe operária no velho continente, freando assim os levantes populares. Este enfoque econômico do imperialismo congregou liberais e marxistas, apesar de suas analises apresentarem divergências claras. Dentre os autores mais influentes desta corrente, destacou-se o economista liberal inglês John Atkinson Hobson, considerado um dos primeiros estudiosos do imperialismo, publicando dentre os seus mais importantes trabalhos, Imperialism: a study (1902), livro que lhe deu reputação internacional e influenciou as análises posteriores de Lênin, Trotsky e Hannah Arendt. Apesar de levar em conta o papel de forças como o patriotismo, a filantropia e o espírito de aventura na promoção da causa imperialista, Hobson valorizava especialmente as causas econômicas do imperialismo, que seriam derivadas da má distribuição de renda e 28
MAGDOFF, Op.cit., p.38.
148 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
da natureza do caráter monopolista do capitalismo que gerava a necessidade de abertura de novos mercados e a criação de novas oportunidades de investimento em países estrangeiros29. Durante a primavera de 1916, V. I. Lênin, teórico marxista e líder da Revolução Russa de 1917, escreveu o livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, uma das principais análises teóricas de fundamentação econômica do imperialismo. Apesar de influenciada pelo livro de Hobson, a análise de Lênin vê o fenômeno do imperialismo da seguinte forma: Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais breve possível, diríamos que ele é a fase monopolista do capitalismo. [...] então devemos dar uma definição de imperialismo que englobe os seguintes cinco caracteres fundamentais: 1. concentração da produção e do capital atingindo um grau de desenvolvimento tão elevado que origina os monopólios cujo papel é decisivo na vida econômica; 2. fusão do capital bancário e do capital industrial, e criação, com base nesse ‘capital financeiro’, de uma oligarquia financeira; 3. diferentemente da exportação de mercadorias, a exportação de capitais assume uma importância muito particular; 4. formação de uniões internacionais monopolistas de capitais que partilham o mundo entre si; 5. termo da partilha territorial do globo entre as maiores potências capitalistas 30.
Segundo a perspectiva analítica de Lênin, concluída a partilha territorial, a competição se estenderia às nações capitalistas, gerando guerras e abrindo espaço para a revolução socialista, que colocaria fim ao capitalismo. Portanto, para Lênin, o imperialismo nada mais seria do que o capitalismo em sua fase mais desenvolvida, acreditando, assim, que o imperialismo seria a “última fase do capitalismo”. Já o enfoque dos fatores políticos procurou perceber como os projetos imperialistas obedeceram às exigências estratégicas das grandes potências; assim, a Grã-Bretanha procurou dominar as rotas marítimas e a Rússia buscou uma saída para mares livres de gelos. Havia também interesse em aumentar o prestígio internacional do país e em consolidar um sentimento nacionalista, já que a expansão colonial contava com o apoio do povo, que se orgulhava do engrandecimento de seus Estados. Nesta perspectiva, dentre os autores que procuraram ver um lado mais político do imperialismo, destacam-se as análises do economista e cientista político austríaco Joseph Alois Schumpeter, para quem o capitalismo é por natureza pacífico, e o imperialismo seria resultante mais de uma tendência para a guerra e conquista, herdada
29 30
HOBSON, John A. Imperialism: a study. Nova York: James Pott and Co., 1902. LÊNIN, V. I. O Imperialismo, fase superior do Capitalismo. São Paulo: Global, 1982. p.88.
149 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
dos primórdios da humanidade. Para o autor, a causa do imperialismo deveria ser, portanto, encontrada na natureza do Estado. Em seu ensaio A Sociologia do Imperialismo [1919], Joseph Alois Schumpeter conclui que o imperialismo apresenta três características genéricas: 1) Na sua raiz há uma tendência persistente para a guerra e a conquista, amiúde dando origem a uma expansão irracional, destituída de qualquer válido objetivo militar. 2) Essa ânsia não é inata ao homem. Evoluiu de experiências traumáticas quando os povos e classes foram transformados em guerreiros a fim de evitar a extinção; a mentalidade e os interesses de classes guerreiras sobrevivem, contudo, e influenciam os fatos, mesmo depois de desaparecida a necessidade vital de guerras em conquistas. 3) A tendência para a guerra e a conquista é mantida e condicionada pelos interesses internos das classes dominantes, amiúde sob a liderança dos indivíduos que tem mais a ganhar econômica e socialmente com as guerras. Se não fossem por esses fatores, acreditava Schumpeter, o imperialismo teria sido varrido para a lata de lixo da história à medida que amadurecia a sociedade capitalista, porquanto o capitalismo na sua forma mais pura é antitético ao imperialismo e floresce melhor no clima de paz e livre comércio. Não obstante a natureza pacífica inata do capitalismo, contudo, emergem grupos de interesses que se beneficiam com conquistas agressivas no exterior. Sob o capitalismo monopolista, a fusão de grandes bancos e cartéis cria um poderoso e influente grupo social que pressiona em busca de controle exclusivo de colônias e protetorados, tendo em vista obter lucros mais altos31.
Por sua vez, a filósofa Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo: AntiSemitismo, Imperialismo, Totalitarismo [1951], analisa o fenômeno do imperialismo da seguinte forma: O imperialismo surgiu quando a classe detentora da produção capitalista rejeitou as fronteiras nacionais como a barreira à expansão econômica. A burguesia ingressou na política por necessidade econômica: como não desejava abandonar o sistema capitalista, cuja lei básica é o constante crescimento econômico, a burguesia tinha de impor essa lei aos governos, para que a expansão se tornasse o objetivo final da política externa. Com o lema “expansão por amor à expansão”, a burguesia tentou – e parcialmente conseguiu – persuadir os governos nacionais a enveredarem pelo caminho da política mundial. Durante algum tempo, a política proposta parecia ter limites e equilíbrios decorrentes da simultaneidade da competição expansionista entre as nações. Em sua fase inicial, o imperialismo podia ainda ser descrito como uma luta de “impérios de concorrência”, diferente “da ideia de império no mundo antigo e medieval, [que] era a de federação de Estados, sob uma hegemonia, cobrindo (...) todo o mundo conhecido”. Mas, de acordo com o princípio nacional ainda em voga, a humanidade constituía uma família de nações que disputavam a primazia e entre as quais a competição estabilizaria automaticamente seus limites antes que um competidor se impusesse sobre os demais. Esse feliz equilíbrio, no entanto, certamente não correspondia ao inevitável resultado de misteriosas leis econômicas; antes, dependia de instituições políticas e, ainda mais, de instituições policiais que não permitiam aos concorrentes o uso de revólveres. Dificilmente se pode compreender como a concorrência entre empresas comerciais – impérios – armadas até os dentes terminasse de outro modo que não a vitória para uma e a morte para as outras. Em outras palavras, a concorrência – como a expansão – não é um princípio político: ambas se baseiam em força política32. 31
MAGDOFF, Op.cit., pp.40-41. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo, Imperialismo, Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.156. 32
150 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Dentre as análises contemporâneas acerca do fenômeno imperialista, a mais conhecida é a do historiador inglês Eric Hobsbawm, que faz o seguinte apontamento: Deixando leninismo e antileninismo de lado, a primeira coisa que o historiador tem de restabelecer é o fato óbvio, que ninguém teria negado nos anos 1890, de que a divisão do globo tinha uma dimensão econômica. Demonstrá-lo não é explicar tudo sobre o período do imperialismo. O desenvolvimento econômico não é uma espécie de ventríloquo com o resta da história como boneco. Neste sentido, mesmo o homem de negócios mais limitado à procura do lucro em, digamos minas sulafricanas de ouro e diamantes jamais pode ser tratado exclusivamente como uma máquina de ganhar dinheiro. Ele não ficava imune aos apelos políticos, emocionais, ideológicos, patrióticos ou mesmo raciais associados de modo tão patente à expansão imperial. Entretanto, embora seja possível determinar uma conexão econômica entre as tendências do desenvolvimento econômico no centro capitalista do mundo na época e sua expansão na periferia, torna-se muito menos plausível imputar todo o peso da explicação do imperialismo a motivos que não tenham uma conexão intrínseca com a penetração e a conquista do mundo não-ocidental. E mesmo os que parecem ter, como os cálculos estratégicos das potências rivais, devem ser analisados tendo em mente a dimensão econômica33.
Além da abordagem e do enfoque econômico e político é importante analisar também a importância dos fatores ideológicos e das doutrinas justificadoras do imperialismo. Afinal, a inquietação científica, o sentimento de superioridade sobre as outras populações e o ideal de civilizar os povos considerados atrasados também impulsionaram a expansão colonial. De outro lado, os missionários cristãos renovaram nas colônias o antigo ímpeto evangelizador. Na época da Revolução Comercial (séculos XV a XVIII), os europeus com muita frequência usaram a religião para justificar o seu expansionismo. Dessa forma, afirmava-se que as conquistas se realizavam para a conversão dos povos pagãos e defesa da fé cristã. Por sua vez, no século XIX sobreviveram ainda resquícios do antigo “espírito missionário”, mas os europeus passaram a explicar e justificar seu expansionismo pela “missão civilizadora” e pela “natural superioridade do homem branco”. Segundo essa ideia da “missão civilizadora”, caberia aos brancos ensinar aos nativos dos países dominados “bons costumes” e inseri-los na “civilização ocidental”, vista como superior. Essa missão caberia ao homem branco por causa de sua pretensa superioridade racial e técnica. Os conhecimentos da Biologia no século XIX, os estudos de Charles Darwin em especial, foram deformados e utilizados para demonstrar a existência de “raças naturalmente preponderantes”. Essa crença na natural superioridade do branco aparece,
33
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. pp.94-95.
151 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
por exemplo, em palavras de Lord Kitchener, ministro de guerra inglês, que, falando da conquista da Índia, dizia: Foi essa consciência de nossa superioridade inata que nos permitiu conquistar a Índia. Por mais educado e inteligente que seja um nativo, por mais valente que ele se mostre e seja qual for a posição que possamos atribuir-lhe, penso que jamais ele será igual a um oficial britânico.
Muitos liberais acreditavam que a extensão do império, da lei, da ordem e da civilização industrial elevaria os “povos atrasados” na escala da evolução e da civilização. Defendiam que seu dever de cristãos era dar o exemplo e educar outros, conforme pode ser observado no discurso do primeiro-ministro inglês Joseph Chamberlain perante a Câmara dos Comuns: O Império Britânico não se reduz às colônias autônomas e ao Reino Unido. Compreende uma parte muito mais vasta, uma população muito maior sob climas tropicais, onde um grande povoamento europeu é impossível e onde as populações indígenas ultrapassam sempre largamente o número de habitantes brancos [...] Sentimos hoje que o nosso governo sobre esses territórios não pode justificar-se se não mostrarmos que ele aumenta a felicidade e a prosperidade do povo (bravos), e afirmo que o nosso governo efetivamente levou a esses países, que nunca tinham conhecido esses benefícios, a segurança, a paz e uma prosperidade relativa (bravos). Prosseguindo nesta obra de civilização, cumpramos o que penso ser a nossa missão nacional, e encontraremos nessa empresa em que exercer aquelas qualidades e aquelas virtudes que fizeram de nós uma grande raça governante (aclamações) [...] Afirmo que quase por toda a parte onde o governo da Rainha foi estabelecido e a grande “Pax Britânica” reforçada, a vida e a propriedade tornaram-se mais seguras, e as condições materiais da massa da população foram melhoradas 34.
Segundo os historiadores Flavio de Campos e Renan Garcia Miranda, os missionários cristãos foram os primeiros a entrar em contato com povos estrangeiros e a adquirir conhecimento sobre eles, e os primeiros a criar uma escrita para aqueles que não conheciam nenhuma. Em todo o século XIX, eles penetram em regiões inexploradas para pregar e continuar a cruzada contra a escravidão – a que particularmente os ingleses se opunham. Missionários como David Livingstone acreditavam que o comércio de escravos nessas regiões só terminaria quando os próprios nativos conhecessem a lei, a ordem e a estabilidade, e quando a economia mundial de mercado lhes oferecesse alternativas à antiga submissão pela guerra, pilhagem e escravidão35. As explorações de Livingstone, na bacia do Congo, e as de Richard Burton e John Speke, que apostaram uma corrida entre si, e com Livingstone, para descobrir as nascentes do rio Nilo, fascinaram muitos europeus. Patrocinados pelas sociedades
34
Discurso do primeiro-ministro inglês Joseph Chamberlain perante a Câmara dos Comuns. Apud. RENOUVIN, Pierre & PRÉCLIN, Edmond. A época contemporânea. São Paulo: Difel, s.d. 35 CAMPOS, Flavio de & MIRANDA, Renan Garcia. A Escrita da História. São Paulo: Escala Educacional, 2005. p.360.
152 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
geográficas nacionais e de exploração, e estimulados pelos militares de suas respectivas nações, os exploradores penetraram a imaginação de europeus e americanos. Homens e nações competiam para descobrir a montanha mais alta, o rio mais longo e a catarata mais elevada36. A justificativa política-ideológica imperialista contaria ainda com os textos de escritores como Rudyard Kipling e Henry Rider Haggard, que apoiaram os ideais colonizadores e despertavam fascínio por lugares distantes e povos desconhecidos. Nestes textos era valorizado o heroísmo e a “responsabilidade” – ou como na época preferiam dizer “o fardo” – do “homem branco”, e não a exploração, a crueldade e os abusos do império. Essas ideias eram largamente difundidas entre a burguesia da Europa e dos Estados Unidos, mas a própria classe operária não estava completamente isenta delas. Friedrich Engels criticava os operários ingleses por fecharem os olhos à exploração dos países coloniais que terminava por beneficiá-los, porque, muitas vezes, os aumentos de salários e a diminuição da jornada de trabalho nas metrópoles tornavam-se possíveis por causa da exploração colonial-imperialista. O que o capitalismo dava aos trabalhadores europeus retirava em parte dos trabalhadores asiáticos, africanos e latino-americanos. Ao refletir sobre a questão ideológica presente no imperialismo, o historiador brasileiro Francisco Iglésias faz a seguinte consideração: Ora, nosso propósito é fixar a ideologia do colonialismo. Daí as considerações feitas sobre o pensamento liberal e o evolucionista [...]. No século em estudo, é tal corpo de ideias que convém à classe burguesa daqueles países, como é ainda o que lhes convém no quadro internacional, pois estabelece o domínio que podem ter sobre os demais. Smith, Ricardo e outros exprimem os interesses de suas classes e nações, como não podia deixar de acontecer, não importando as contradições entre os que pregam e a realidade interna, nacional, ou externa, sobretudo das colônias. O evolucionismo, concretiza mais ainda o lado brutal do liberalismo, de seu desinteresse pelo proletariado ou pelos povos que vivem em condições de dominados. O uso dos conceitos de luta, seleção natural, sobrevivência dos mais aptos – aplicação dos princípios da Biologia à ciência social – vai criar uma ideologia de dominação, de imperialismo. De fato, se há povos mais evoluídos que outros, é decorrência da seleção natural, que sanciona o direito dos mais evoluídos sobre os menos evoluídos. Os princípios de certa ciência social vão ser aproveitados principalmente por políticos, comerciantes ou aventureiros, que têm justificação para seu comportamento, racionalização para a atitude que adotam37.
36
CAMPOS & MIRANDA, Op.cit., p.360. IGLÉSIAS, Francisco. “Natureza e Ideologia do Colonialismo no Século XIX”. In: ____. História e Ideologia. São Paulo: Perspectiva, 1971. p.100. 37
153 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Todos esses fatores, em conjunto, explicam e impulsionam o novo surto colonialista e foram resumidos em uma entrevista que o colonizador e homem de negócios britânico Cecil Rhodes forneceu em 1895 ao jornalista W. T. Stead: “A ideia que mais me acode ao espírito é a solução do problema social, a saber: nós, os colonizadores, devemos, para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil, conquistar novas terras a fim de aí instalarmos o excedente da nossa população, de aí encontrarmos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. O Império, como sempre tenho dito, é uma questão de estômago. Se quereis evitar a guerra civil, é necessário que vos torneis imperialistas”. “O mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas, se pudesse; penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente, e ao mesmo tempo tão distantes” 38. “Sustento que somos a primeira raça no mundo, e quanto mais do mundo habitarmos, tanto melhor será para a raça humana... Se houver um Deus, creio que Ele gostaria que eu pintasse o máximo que fosse possível do mapa da África com as cores britânicas e fizesse o que eu puder em outros lugares para promover a unidade e estender a influência dos ingleses ”39.
A propaganda do neocolonialismo europeu na África: Figura 8: Cartum inglês de Edward Linley Sambourne, publicado em 1892, representando o colonizador inglês Cecil Rhodes sobre o continente africano personificando as ambições do imperialismo europeu na África; Figura 9: Capa de “Le Petit Journal” com a imagem do Marrocos, no norte da África, que simboliza a França oferecendo a civilização aos habitantes (Litografia publicada em 19 de novembro de 1911); Figura 10: Cartum de autoria desconhecida, de 1896, apresentando o contraste entre as realidades históricas dos africanos antes e depois da conquista alemã na África, que representaria a “selvageria” do “mundo bárbaro africano” sendo controlada através da ordem e da disciplina da “civilização europeia”.
38
RHODES, Cecil. The Last Will and Testament of Cecil John Rhodes. With elucidatory notes to which are added some chapters describing the political and religious ideas of the testator (edited by W.T. Stead). Londres: Review of Reviews Office, 1902. p.190. 39 RHODES, Op.cit., p.98.
154 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
“Coração das Trevas”: Um Retrato do Neocolonialismo Europeu na África O litoral da África já era visitado por comerciantes portugueses desde o fim do século XV, pois ali existia um comércio de ouro intenso. Para proteger o local onde faziam suas escalas nas viagens marítimas rumo à Ásia e, sobretudo, a região onde capturavam escravos para depois vender na América, os lusos construíram entrepostos comerciais fortificados. Outros europeus como os holandeses no século XVII, se aventuraram pela costa ocidental da África à procura de ouro e para capturar escravos. A descoberta de diamantes no Transvaal (sul da África), em 1867, e de ouro e cobre na Rodésia (atuais Zâmbia e Zimbábue), em 1889, despertou o interesse das potências industriais europeias pela África. Até então, a exploração do continente africano tinha sido obra de aventureiros e particulares. Com as descobertas, abriram-se novas possibilidades de exploração econômica, levando países europeus a considerar a conquista da África como parte de seus projetos de expansão imperialista. A África tornou-se uma fabulosa fonte de matérias-primas, e logo as potências europeias iniciaram uma corrida para apoderar-se da maior porção possível do continente. O primeiro passo na disputa fora dado pela França que, em 1830, em ação isolada invadiu a Argélia, no norte do continente africano. Em seguida, foi a vez da Bélgica, que ocupou a região do Congo em 1876. O fato causou polêmica entre as nações europeias interessadas na mesma área. Para resolver o problema e fixar as regras da partilha da África, representantes das diversas potências imperialistas (Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos da América, Holanda e Grã-Bretanha) reuniram-se na Conferência de Berlim (1884-1885), convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. A conferência, entretanto, realizou-se tardiamente. De fato, nos quinze anos que a separam da conquista do Congo pela Bélgica, a Inglaterra se lançou à conquista da Rodésia, Nigéria, Costa do Ouro, Serra Leoa e da África Ocidental Inglesa. Mais tarde se apoderaram também da União Sul-Africana. A França não ficaria atrás, subjugando a Tunísia, a África Equatorial Francesa, Mauritânia, Madagascar e a África Ocidental Francesa, além da Argélia, cuja conquista fora completada em 1857. O Egito e o Sudão eram objeto de disputa entre os ingleses e franceses, enquanto Moçambique, Guiné Portuguesa e Angola pertenciam a Portugal desde o século XVI. 155 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Dessa forma, a Alemanha e a Itália, cuja unificação se dera apenas na segunda metade do século XIX, não entraram na partilha das melhores regiões: a Alemanha ficou com a África Oriental Alemã, o território de Camarões e a África do Sudoeste Alemã. A Itália conquistou a Líbia, a Somália Italiana e a Eritréia. Para a Espanha restaram o Marrocos Espanhol, Rio de Ouro e Rio Muni. Indefesa diante da gigantesca superioridade bélica das nações industrializadas, em poucos anos, a África seria retalhada e repartida entre as potências europeias. Foi neste contexto do neocolonialismo europeu na África do século XIX que Joseph Conrad escreveu Coração das Trevas, um livro que narra a odisseia de um homem por um rio, nas profundezas de uma selva primitiva. Contudo, a história guarda mistérios que vão se construindo aos poucos, até o leitor conseguir identificar o lado sombrio da natureza humana, por meio de traços de decadência moral e física. Numa narrativa baseada na ideia de contraste (luz versus escuridão, branco versus negro, civilizado versus selvagem, etc.) e interpenetração de opostos (por exemplo, sempre que aparece um elemento branco ele está cercado de negro, e viceversa), o livro é ao mesmo tempo provocante e perturbador, atraindo e incomodando em doses iguais. Para acompanharmos a história contada no livro, um narrador implícito, anônimo (Joseph Conrad) nos apresenta a Charles Marlow, espécie de alterego do autor, o personagem principal da trama e narrador que nos conta – por figura interposta, já que existe uma história dentro da história – sua estranha aventura em Coração das Trevas. A trama tem início com uma narração em primeira pessoa de um dos tripulantes de uma embarcação no Tamisa. Ele fala sobre Charles Marlow, um velho tripulante a bordo do navio, o único que ainda “seguia o mar”. Então, eis que assume a narrativa o personagem Charles Marlow que, sem nada o que fazer já que a maré não era favorável à navegação, começa a rememorar fatos do passado, contando, desta vez, a sua missão anterior até um posto colonial no coração da selva para resgatar a figura do lendário chefe de posto, o Sr. Kurtz, um comprador de marfim cujos métodos acabam por se revelar inadequados para a empresa mercantil que o contratou. O longo relato é interrompido poucas vezes, e apenas para que o leitor não perca de vista o ponto irradiador do foco narrativo. Logo no início de sua narrativa, Marlow relaciona a narração de tais fatos às mudanças na sua vida após tal experiência: 156 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
“Não quero incomodá-los muito com o que me aconteceu pessoalmente”, começou ele, denunciando com essas palavras a fraqueza de muitos contadores de histórias que parecem tantas vezes ignorar o que a sua plateia prefere ouvir; “mas, para entender o efeito que tudo teve sobre mim, vocês precisam saber de que maneira fui parar lá, o que eu vi, como eu subi aquele rio até o lugar onde eu conheci o pobre coitado. Foi o ponto mais distante a que chegaram as minhas navegações, e o ponto culminante da minha experiência. De algum modo, parece ter lançado uma espécie de luz sobre tudo o que me diz respeito – e sobre os meus pensamentos. Foi uma coisa sombria, também – e deplorável – nada extraordinária em nenhum aspecto – e tampouco muito clara para mim. Não muito clara. E no entanto, parece ter lançado uma espécie de luz”40.
Dito isso, Marlow inicia a narrativa descrevendo o seu fascínio por desbravar novas regiões ainda inexploradas pelo homem: Na época como vocês devem lembrar, eu tinha acabado de voltar para Londres depois de muito oceano Índico, Pacífico, mares da China – uma boa dose de Oriente – seis anos mais ou menos, eu estava desocupado, estorvando vocês no seu trabalho e invadindo as suas casas, como que encarregado pelos céus da missão de civilizálos. Foi muito bom por um certo período, mas depois de algum tempo cansei-me de descansar. E então comecei a procurar um navio – o que nem era o trabalho mais difícil do mundo. Mas os navios não queriam saber de mim. E me cansei de mais essa brincadeira. Acontece que, quando eu era pequeno, tinha verdadeira paixão por mapas. Passava horas olhando para a América do Sul, ou para a África, ou para a Austrália, e me perdia em todas as glórias da exploração. Naquela época ainda havia muitos espaços em branco na Terra, e, por toda vez que eu via no mapa algum que me parecesse mais convidativo (embora todos sejam convidativos), punha meu dedo nele e dizia: ‘Quando eu crescer, irei até lá’. O pólo norte era um desses lugares, eu me lembro. Bom, pois lá ainda não estive, nem pretendo mais tentar. O encanto se gastou. Outros lugares se espalhavam ao longo do equador, e nas mais variadas latitudes pelos dois hemisférios. Estive em algum desses pontos, e..., bem, não vamos falar a respeito disso. Mas ainda havia um deles – o maior – o mais em branco, por assim dizer – que eu sentia um desejo especialmente intenso de conhecer41.
Em seguida, destaca, dentre essas regiões, o continente africano e aponta como que naquele momento rapidamente a África estava sendo dominada pela colonização europeia. Tomado ao mesmo tempo por sensações de fascínio e de repulsa, Marlow sentiu despertado o seu interesse em conseguir um trabalho na África:
40 41
CONRAD, 2008, p.15. Ibid.,p.16.
157 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 11: A partilha territorial da África, conforme foi decidida na Conferência de Berlim (1884-1885).
É bem verdade que àquela altura já deixara de ser um espaço em branco. Vinha sendo preenchido, desde a minha infância, com rios, lagos e nomes. Deixara de ser um espaço em branco dominado por um mistério fascinante – uma extensão vazia que os meninos podiam ocupar com sonhos de glória. Transformara-se num lugar escuro, tomado pelas trevas. Mas havia ali um rio em especial, grande e caudaloso, que se podia ver no mapa, lembrando uma imensa serpente desenrolada, com a cabeça no mar, o corpo estendido descrevendo curvas que se prolongavam por uma vasta extensão de terras e a cauda perdida nas profundezas do continente. E, quando encontrei esse mapa na vitrine de uma loja, ele me fascinou como uma cobra hipnotiza um pássaro – um passarinho bobo e ingênuo. E então lembrei que havia um grande negócio em andamento naquela área, uma Companhia que operava o comércio naquele rio. Com os diabos, pensei, eles não têm como atuar num lugar assim sem usar algum tipo de barco em toda essa vastidão de água doce – barcos a vapor! E por que eu não podia tentar o comando de um deles? Segui caminhando pela Fleet Street, mas a ideia não me deixava em paz. A serpente me enfeitiçara 42. 42
Ibid., pp.16-17. No clássico estudo Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador [1973], Albert Memmi, escritor e ensaísta francês nascido na Tunísia, reflete sobre as motivações do colonizador europeu em ir para a África ou Ásia nos seguintes termos: “Os motivos econômicos do empreendimento colonial estão, atualmente, esclarecidos por todos os historiadores da colonização; ninguém acredita mais na missão cultural e moral, mesmo original, do colonizador. Em nossos dias, ao menos, a partida para a colônia não é a escolha de uma luta incerta, procurada precisamente por seus perigos, não é a tentação da aventura, mas a facilidade. É suficiente, aliás, interrogar o europeu das colônias: que razões o levaram a expatriar-se e, principalmente, a persistir em seu exílio? Acontece que ele fala também em aventura, em pitoresco e em expatriação. Mas, por que não os procurou na Arábia, ou simplesmente na Europa Central, onde não se fala a sua própria língua, onde não encontra um grupo importante de compatriotas seus, uma administração que o serve, um exército que o protege? A aventura comportaria mais imprevisto: essa expatriação, no entanto, mais certa e de melhor qualidade, teria sido de duvidoso proveito: a expatriação colonial, se é que há expatriação, deve ser, antes de mais nada, lucrativa. Espontaneamente, melhor que os técnicos da linguagem, nosso viajante nos proporá a melhor definição da colônia: nela ganha-se mais,
158 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 12: O Rio Congo, referido como uma cobra, despertou o desejo de Marlow ir para a África.
Após algumas tentativas sem sucesso, Marlow decidiu apelar para a ajuda e influência da sua tia, que conhecia a esposa de um alto dirigente da Administração, e acaba através dela conseguindo o posto de comandante de um barco a vapor numa companhia marítima, em substituição a um de seus comandantes que havia morrido numa rixa com os nativos: [...] Era a minha oportunidade, e me deixou mais ansioso ainda para partir. Foi só meses mais tarde, quando fiz a tentativa de recuperar o que restara do corpo, que ouvi dizer que a briga original se devera a um desentendimento em torno de umas galinhas. Isso mesmo, duas galinhas pretas. Fresleven – era o nome do sujeito, um dinamarquês – achou que fora enganado de alguma forma no negócio, desceu do barco e deu uma sova de pau no chefe da aldeia. Ah, não fiquei nada surpreso quando me contaram essa história e, ao mesmo tempo, que Fresleven era a criatura mais gentil e tranquila que jamais caminhou sobre dois pés. Não tenho dúvida de que era, mas já estava lá havia alguns anos envolvido com a nobre causa, sabem, e é provável que tenha finalmente sentido a necessidade de reafirmar de algum modo o seu respeito por si mesmo. E por isso surrou o pobre velho negro sem dor nem piedade, enquanto uma parte do povo dele assistia, paralisada, até algum homem – disseram-me que foi o filho do chefe – em desespero diante dos gritos do pobre velho, reagir com uma ameaça de estocada da sua lança – e é claro que ela penetrou facilmente entre as omoplatas do homem branco. Em seguida, a população inteira desapareceu na floresta, esperando calamidades de todo o tipo, enquanto, por outro lado, o vapor de Fresleven também zarpava em meio ao pânico, sob comando do maquinista, acho eu. Mais tarde, ninguém parece ter se preocupado muito com os restos de Fresleven, até eu aparecer e assumir o seu posto. Eu, por minha vez, não podia deixar as coisas como estavam, mas, quando finalmente tive a chance de encontrar o meu predecessor, a relva que crescia entre as suas costelas já subira o suficiente para cobrir toda a ossada. Que continuava lá. Aquele ser sobrenatural permanecera intacto depois da queda. E a aldeia fora abandonada, as cabanas escuras abertas, apodrecendo, todas fora de prumo, rodeadas pela paliçada caída. Uma calamidade de fato ocorrera. As pessoas tinham desaparecido. O terror louco dispersara todos, homens, mulheres e crianças, pela mata, para nunca mais voltarem. O que foi feito das galinhas eu não sei. Mas imagino que a causa do progresso
nela gasta-se menos. Vai-se para a colônia porque nela as situações são garantidas, alto os ordenados, as carreiras mais rápidas e os negócios mais rendosos. Ao jovem diplomado oferece-se um posto, ao funcionário uma promoção, ao comerciante reduções substanciais de impostos, ao industrial matériaprima e mão-de-obra a presos irrisórios”. NEMMI, Albert. Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. pp.21-22.
159 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
também as tenha vitimado de algum modo. De qualquer maneira, foi graças a esse glorioso episódio que consegui o meu posto, bem antes do que eu esperava 43.
Figuras 13 e 14: A tia de Marlow acreditava que o colonialismo tinha grandes causas nobres: edificar entre os ignorantes a civilização avançada. Os europeus faziam uma suposição arrogante de que os africanos eram os povos primitivos, e eles precisavam ser civilizados, independentemente da sua própria vontade. A tia de Marlow e muitos outros europeus glorificavam o imperialismo e não tinham a compreensão de que este era, afinal, um ato de auto-interesse. A convicção de que a colonização era altruísta também é destaque em Fardo do Homem Branco.
Marlow tornou-se, então, comandante de um vapor e foi apresentar-se aos seus empregadores para assinar o contrato. Ao chegar à sede da Companhia, foi levado até uma sala, que lhe chamou muita atenção: Dei-lhe o meu nome, e olhei em volta. Mesa de pinho no meio, cadeiras simples encostadas nas paredes, numa das extremidades um grande mapa 44 lustroso exibindo todas as cores do arco-íris. Havia uma vasta extensão de vermelho – o que é bom de ser ver a qualquer momento, porque indica que estão trabalhando de verdade naqueles lugares – um bocado de azul, um pouco de verde, pequenas manchas de laranja, e, na Costa Oriental, uma extensão comprida de púrpura, para mostrar onde os alegres pioneiros do progresso tomavam alegremente boa cerveja clara. No entanto, não era para nenhum deles que eu ia. A minha meta era o amarelo. Bem no centro. E lá estava o rio – fascinante – mortífero – lembrando uma serpente45.
43
CONRAD, Op.cit., pp17-19. Segundo nota do tradutor: “A descrição é de um mapa da África colonial. Pela convenção dominante da época, o vermelho havia de indicar as colônias britânicas. As demais cores devem assinalar as colônias francesas, italianas, portuguesas e alemãs, não necessariamente nessa ordem. O amarelo, no caso, indica a única colônia belga do continente, o Congo”. CONRAD, Op.cit., Nota do Tradutor - p.19. 45 CONRAD, Op.cit., pp.19-20. 44
160 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 15: Mapa da partilha europeia da África após a Conferência de Berlim (1884-1885)
Depois de assinados os documentos, em que se “comprometia, entre outras coisas, a não revelar nenhum segredo comercial”, Marlow teve de passar por uma consulta médica, onde ocorreu um episódio curioso: O velho médico apalpou o meu pulso, o tempo todo com o pensamento evidentemente em alguma outra coisa. ‘Bom, bom para lá’, murmurou, e então, com uma certa ansiedade, perguntou se eu lhe permitiria tirar as medidas da minha cabeça. Bastante surpreso, respondi que sim, a que ele pegou um instrumento semelhante a um calibre e tirou as medidas da frente, de trás e de todas as partes do meu crânio, anotando tudo com o maior cuidado. [...] ‘Sempre peço, no interesse da ciência, permissão para tirar as mediadas cranianas das pessoas que seguem para lá’, disse ele. ‘E quando voltam, também?’, perguntei. ‘Ah, eu nunca vejo quem volta’, observou ele; ‘e além do mais as mudanças ocorrem por dentro, sabe’. E deu um sorriso, como se lembrasse alguma piada silenciosa. [...] Lançou-me um olhar penetrante, e fez mais uma anotação. ‘Algum caso de loucura na família?’, perguntou, num tom neutro. Fiquei muito contrariado. ‘Essa pergunta também é no interesse da ciência?’ ‘Poderia ser’, respondeu ele, sem tomar conhecimento da minha irritação, ‘interessante para a ciência observar as mudanças mentais nos indivíduos no local, mas...’ ‘O senhor é alienista?’, interrompi. ‘Todo médico deveria ser – um pouco’, respondeu aquele original, imperturbável. ‘Eu tenho uma teoria, que os senhores, messieurs que partem para lá, deveriam me ajudar a provar. E é essa a minha parte nas vantagens que o meu país há de auferir com a posse de uma dependência tão magnífica. A mera riqueza, deixo para os outros. Perdoe as minhas perguntas, mas o senhor é o primeiro inglês que tenho a oportunidade de observar...’ Apressei-me a lhe assegurar que eu não era nem um pouco típico. ‘Se fosse’, disse eu, ‘eu não estaria conversando assim com o senhor’. ‘O que o senhor me diz é muito profundo, e provavelmente equivocado’, respondeu ele com uma risada. ‘Evite a irritação mais que a exposição ao sol. Adieu. Como é que vocês,
161 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ingleses, dizem, hein? Godd-bye. Ah! Good-bye. Adieu. Nos trópicos, antes de tudo, a pessoa precisa manter a calma...’ Ergueu um dedo em advertência... ‘Du calme, Du calme. Adieu46.
Figura 16: Representação que, com base em características físicas apresentadas como “científicas”, ressalta as semelhanças entre o negro e o chimpanzé e entre o branco e Apolo. Adaptação da escala das raças brancas e negras elaborada pelo monogenista. GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes, 1968. p.19. Apud. HERNANDEZ, Leila Leite. A África na Sala de Aula. Visita à História Contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. p.133.
Na sequência da trama, como poderá ser percebido, não se trata de um roteiro de viagem, pois desde o início o tom e as imagens apresentadas por Joseph Conrad prevêem o pior. O rio, segundo ele, é uma imensa cobra desenrolada. “Ele me fascinava, como uma cobra fascina a um pássaro. Um pássaro qualquer. A cobra havia me hipnotizado”. A odisseia de Marlow segue os passos da viagem de Conrad ao Congo, desde Boma até a cidade onde hoje é Kinshasa e em seguida até Kisangani.
Figuras 17 e 18: O percurso de Marlow rumo ao Congo Belga. 46
CONRAD, Op.cit., pp.21-22.
162 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
A primeira parada de Marlow é o posto da empresa, onde as mercadorias são preparadas para serem enviadas à Europa. Ele descreve o local da seguinte forma: Finalmente um trecho reto do rio se descortinou diante de nós. Encostas rochosas apareceram, além de montes de terra revirada junto à beira da água, casas numa colina, outras com telhado de ferro construídas no declive em meio a restos de escavações. O barulho contínuo das corredeiras mais acima pairava sobre aquela cena de devastação habitada. Muitas pessoas, na maioria negras e nuas, deslocavamse de um lado para o outro como formigas. Um ancoradouro se projetava rio adentro. O clarão cegante da luz do sol afogava de tempos em tempos toda a cena em súbitos recrudescimentos de brilho. ‘Ali fica a sede da sua Companhia’, disse o sueco, apontando para três estruturas de madeira em forma de galpão plantadas no alto da encosta rochosa. [...] Encontrei uma caldeira tombada de lado na relva, e em seguida um caminho que galgava o morro. Fazia algumas curvas para evitar uns penhascos e também uma locomotiva de pequeno porte caída de costas, com as rodas para o ar. Uma delas sumira. A coisa parecia tão morta quanto a carcaça de algum animal. Encontrei outros pedaços de maquinaria em decomposição, uma pilha de trilhos enferrujados. À esquerda um aglomerado de árvores criava uma área de sombra onde coisas pretas pareciam mover-se timidamente. Pisquei os olhos, o caminho era inclinado. Uma sirene tocou à direita, e vi os pretos correndo. Uma detonação violenta e surda abalou o solo, uma nuvem de fumaça brotou da encosta, e só. [...] Estavam construindo uma ferrovia47.
Neste momento, além da transformação do meio ambiente sob o impacto da colonização europeia, Marlow depara-se com as imagens cruéis da escravidão negra e com a opressão dos colonizadores europeus sobre os africanos: [...] Seis homens negros avançavam em fila, esforçando-se para prosseguir na subida. Caminhavam eretos e lentos, equilibrando na cabeça cestos cheios de terra, e aquele tilintar acompanhava o ritmo dos seus passos. Traziam farrapos negros enrolados em torno dos quadris, e as pontas curtas do tecido balançavam como caudas abaixo das suas costas. Eu podia distinguir todas as suas costelas, as juntas dos seus membros lembravam nós numa corda, cada um trazia uma coleira de ferro no pescoço e todas estavam unidas por uma corrente cujos grandes elos oscilavam entre os homens, chacoalhando ritmicamente. Uma nova explosão vinda da encosta me fez lembrar daquele navio de guerra que eu vira disparando contra o continente. Era o mesmo tipo de voz funesta; mas por nenhum esforço da imaginação aqueles homens podiam ser chamados de inimigos. Aqui eram chamados de criminosos, e a lei que violaram chegara a eles da mesma forma que aqueles projéteis e explosivos, um mistério insolúvel vindo do mar. Os seus peitos descarnados arquejavam todos ao mesmo tempo, as narinas violentamente dilatadas estremeciam, os olhos petrificados permaneciam fixos no alto da ladeira. Passaram por mim a menos de quinze centímetros, sem um relance de olhos sequer, com aquela indiferença completa e cadavérica dos selvagens infelizes. [....] Havia formas negras acocoradas, deitadas, sentadas entre árvores, apoiadas nos troncos, coladas à terra, meio reveladas e meio ocultas pela luz atenuada em todas as posturas da dor, do abandono e do desespero. Outra carga subterrânea explodiu na encosta, seguida de um ligeiro estremecimento do solo debaixo dos meus pés. A obra prosseguia. A obra! E era naquele local que alguns dos auxiliares se tinham refugiado da morte. Estavam morrendo aos poucos – era muito claro. Não eram inimigos, não eram criminosos, não eram mais coisa alguma que fosse terrena – nada mais que sombras negras da doença e da fome, jazendo de cambulhada na penumbra verde. Trazidos de todos os recantos da costa com toda a legalidade dos contratos temporários, 47
CONRAD, Op.cit., pp.27-28.
163 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
perdidos em terreno hostil, alimentados com comida estranha, adoeciam, tornavamse ineficientes, e finalmente lhes permitiam que se arrastassem até ali para o descanso. Aquelas formas moribundas eram livres como o ar – e quase igualmente insubstanciais48.
Figura 19: Mulheres reféns, mantidas sob vigilância para forçar os maridos a entrar na floresta e recolher borracha nativa. Figura 20: Fotografias mostrando diversos africanos que tiveram as suas mãos cortadas, símbolo da crueldade europeia sofrida pelos africanos durante a ação imperialista na África.
48
CONRAD, Op.cit., pp.28 e 30. Esta descrição literária provavelmente foi fruto da experiência pessoal do autor. Em seu diário, Joseph Conrad havia feito uma anotação para o dia 3 de julho de 1890 com um relato muito semelhante do que mais tarde descreveria em Coração das Trevas: “Encontrei um oficial do Estado fazendo inspeção; alguns minutos depois vi num acampamento o corpo de um bacongo morto. Fuzilado? Cheiro horrível”. No dia seguinte: “Vi um corpo largado na trilha, numa atitude de repouso mediativo”. E a 29 de julho: “Passei hoje por um esqueleto amarrado a um poste”. Apud. HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do Rei Leopoldo: Uma História de Cobiça, Terror e Heroísmo na África Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.153-154.
164 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 21 - 26: Imagens do imperialismo europeu na África. A figura 24 retrata os missionários britânicos ao lado dos homens africanos segurando mãos decepadas pela ABIR, em 1904. As vítimas a quem essas mãos pertenciam chamavam-se Bolenge e Lingomo.; Figura 25: Um entreposto de marfim no Congo, cerca de 1890. As presas de elefante, compradas por uma ninharia ou confiscada sob a mira dos fuzis, alcançavam altos preços na Europa. O marfim servia para fabricar uma série de coisas, de dentaduras a teclas de piano.
Ainda no primeiro posto conhece o contador-chefe da Companhia, uma figura que o fascina pela sua elegância e pela sua organização, já que Todo o resto do posto era uma confusão – as cabeças, as coisas, as instalações. Fileiras de negros sujos com os pés espalhados chegavam e partiam; um fluxo constante de mercadorias, peças de algodão ordinário, contas e fios de metal, era
165 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
transportado para as profundezas das trevas, e de volta vinha um precioso gotejar de marfim49.
Durante os dez dias em que permaneceu no posto, acompanhando o trabalho do contador-chefe da Companhia, este mencionou pela primeira vez “o nome do homem tão indissoluvelmente ligado às memórias daquele tempo”, que foi a figura do Sr. Kurtz: Um dia ela observou, sem erguer a cabeça: ‘No interior o senhor deverá encontrar o Sr. Kurtz’. Quando lhe perguntei quem era o Sr. Kurtz, ele respondeu que era um agente de primeira classe; e ao ver o meu desapontamento com essa informação, acrescentou lentamente, pousando a pena: ‘É um homem realmente notável’. Novas perguntas o estimularam a dizer que o Sr. Kurtz era o atual responsável por um posto de troca, muito importante, em plena terra do marfim, ‘no ponto mais profundo. Manda tanto marfim para cá quanto todos os outros juntos...’. [...] ‘Quando o senhor encontrar o Sr. Kurtz’, continuou, ‘pode lhe dizer da minha parte que tudo aqui’ – olhou de relance para a mesa – ‘está muito satisfatório. Não gosto de escrever para ele – com esses nossos mensageiros, nunca sabe nas mãos de quem a sua carta vai parar – naquele Posto Central’. Fitou-me por um momento com seus olhos mansos e protuberantes. ‘Ah, ele vai longe, muito longe’, recomeçou. ‘Vai ser alguém na Administração, dentro de pouco tempo. É o que eles, lá em cima – o Conselho na Europa, sabe – já decidiram’50.
Assim, Marlow recebe a incumbência da missão de resgatar o chefe de posto, o Sr. Kurtz. Ao narrar sua aventura até encontrar o vapor, Joseph Conrad faz uma crítica à falta de conectividade entre as regiões, à escravidão, ao aspecto burocrático e alheio dos comandantes e à falta de informação por parte destes51. Nesse processo, Marlow passa a 49
CONRAD, Op.cit., p.32. CONRAD, Op.cit., p.33. 51 A corrida intermetropolitana para ocupar terras e pontos estratégicos no continente africano, exacerbava o nacionalismo e as rivalidades europeias. Neste quadro, vulgarizava-se na Inglaterra a analogia entre o Império Romano e o Império Britânico, supostamente fundadores de comunidades mais organizadas e mais avançadas em suas colônias. Sobre a colonização romana na Inglaterra, Joseph Conrad aponta: “Estava pensando nos tempos muito antigos, quando os romanos chegaram aqui [Inglaterra] pela primeira vez, mil e novecentos anos atrás – tão pouco tempo... [...] Eram homens capazes de dar conta das trevas. [...] Mas esses sujeitos, no fim das contas, não eram gente de muito preparo. Não eram colonos. A administração que exerciam, acho eu, era pura extorsão e nada mais. Eram conquistadores, e para isso basta a força bruta – nada de que alguém possa se vangloriar, pois a sua força não passa de um acidente produzido pela fraqueza dos outros. Eles se apoderavam de tudo o que podiam, sempre que tinham a oportunidade. Era simples roubo, assalto à mão armada, latrocínio numa escala grandiosa, e esses homens o praticavam cegamente – como convém a quem investe contra as trevas. A conquista da terra, que antes de mais nada significa tomá-la dos que têm a pele de outra cor ou o nariz um pouco mais chato que o nosso, nunca é coisa bonita quando a examinamos bem de perto. Só o que redime a conquista é a ideia. Uma ideia por trás de tudo; não uma impostura sentimental, mas uma ideia; e uma crença altruísta na ideia – uma coisa que possamos pôr no alto, frente à qual possamos nos curvar e oferecer sacrifícios....”. CONRAD, Op.cit., p.13-15. Já ao contrário, os holandeses e os belgas (e os franceses) eram comparados aos antigos fenícios, unicamente interessados no comércio e na pilhagem colonial. Na opinião pública londrina, a Bélgica aparecia como um reino meio troncho, dotado de um monarca que buscava obter na pilhagem do Congo a densidade política de que carecia na diplomacia europeia. Cf. ATKINSON, William. “Bound in Blackwood’s: the imperialism of The Heart of darkness in its immediate context”, Twentieth Century Literature, vol.50 (4), 2004, pp.368-393. Apud. ALENCASTRO, Op.cit., pp.160-161. Segundo Alencastro, para os contemporâneos de Conrad e os leitores da revista o livro Coração das Trevas tratava-se de um ataque dirigido à política belga no Congo, a um colonialismo de terceira categoria, sem a envergadura do colonialismo inglês. 50
166 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
ouvir muitos elogios ao Sr. Kurtz, como um ótimo chefe de posto, muito inteligente e brilhante. Marlow afirma em um ponto da narrativa que, ao pensar em Kurtz, via apenas um nome e era incapaz de enxergar a pessoa por trás da lenda. Para o infortúnio de Marlow, ele descobre que um comandante improvisado havia recebido ordens dois dias antes de sua chegada para subir o rio com o vapor, e, ao fazer isso, o vapor chocou-se contra pedras do fundo do rio e naufragou. Então, sem saber o que fazer, ele decide tentar consertar o barco, e gasta alguns meses fazendo-o. O conserto leva tempo, tempo suficiente para ele conhecer melhor esse novo ambiente. Neste novo posto, o primeiro fato que lhe chama a atenção é a falta de objetivo dos outros europeus: Ainda assim, de tempos em tempos é preciso olhar em volta; e então eu via aquele posto, aqueles homens perambulando a esmo pelo pátio ensolarado. E às vezes me perguntava o que tudo aquilo podia significar. Eles vagavam de um lado para o outro com aqueles cajados absurdamente longos nas mãos, como um bando de peregrinos descrentes aprisionados por um feitiço na área rodeada por uma cerca apodrecida. Tinha-se a impressão de que era ao marfim que dirigiam as suas preces. Uma aura infecta de rapacidade boçal se espalhava por todo aquele lugar, como o odor que emana de um cadáver. Por Júpiter! Nunca vi nada mais irreal na minha vida. E do lado de fora, as extensões selvagens e silenciosas que cercavam aquela clareira minúscula me pareciam uma coisa imensa e invencível, como o mal ou a verdade, aguardando com toda a paciência o fim daquela invasão grotesca 52.
Após finalmente ter consertado o vapor, ele parte rio acima à procura de Kurtz, lidando com as dificuldades de navegação do rio e de operação do frágil vapor, já velho, deteriorado e com o motor defeituoso. É dessa forma que Marlow vai avançando lentamente em direção ao seu objetivo, encontrar o lendário Sr. Kurtz. No entanto, em uma nova parada, Marlow descobre que há uma aura de hostilidade sobre a figura do Sr. Kurtz. Há boatos estranhos de que ele mudou, tornou-se nativo e contraiu uma doença desconhecida. Para estas pessoas, ele trazia maus presságios. Um dos colonizadores narra os feitos de Kurtz com um sarcasmo que arrebata o próprio Marlow, que descreve o diálogo: Levantei-me. E então percebi um pequeno esboço a óleo, pintado num painel de madeira, representando uma mulher que, com um manto e olhos vendados, carregava uma tocha acessa. O fundo era sombrio – quase negro. O movimento da mulher era imponente, e o efeito da luz da tocha no seu rosto era sinistro. A pintura me fascinou, e ele parou cortesmente ao lado do quadro, segurando uma garrafa vazia de quarto de litro de champanhe (receita médica) com a vela enfiada no gargalo. À minha pergunta, respondeu que tinha sido o Sr. Kurtz quem pintara aquilo – naquele mesmo posto, mais de um ano antes – enquanto esperava um meio de seguir para o interior. ‘Por favor me diga’, disse eu, ‘quem é esse Sr. Kurtz?’ ‘O chefe do Posto do Interior’, respondeu ele num tom seco, desviando os olhos. ‘Muito obrigado’, disse eu, rindo. ‘E o senhor é o fabricante de tijolos do Posto 52
CONRAD, Op.cit., p.39-30.
167 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Central. Disso todo mundo sabe’. Ele ficou calado por um tempo. ‘Ele é um prodígio’, disse afinal. ‘É um emissário da caridade, da ciência, do progresso, e sabe o diabo do que mais. Para conduzir a causa’, começou a declamar de repente, ‘que a Europa nos confiou, por assim dizer, precisamos de uma inteligência superior, tocada por uma compaixão de grande alcance, guiada por um único propósito’. ‘Quem disse isso?’, perguntei. ‘Muita gente’, foi a resposta. ‘Alguns até escreveram; e então ele chega aqui, um ser único, com o senhor bem deve saber’. [...] ‘Sim. Hoje ele chefia o melhor posto, ano que vem será gerente adjunto, mais dois anos e.... mas acho que o senhor sabe que ele virá a ser dentro de dois anos. O senhor é da nova turma – a turma da virtude. As mesmas pessoas que cuidaram de mandar Kurt também recomendaram o senhor53.
Figuras 27 - 29: Adentrando o “coração das trevas”. O barco a vapor Goodwill [Boa Vontade], de propriedade de missionários britânicos, era uma das embarcações típicas que navegavam pelo Congo por volta de 1890.
Na manhã seguinte, sobre o convés novamente, Marlow começa a subir o rio com um carregamento de suprimentos e colonizadores. Seu desprezo por eles contrasta 53
CONRAD, Op.cit., pp.42-43.
168 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
com um fascínio cada vez maior por Kurtz. Ele deveria ser uma pessoa excepcional para sobreviver a isso tudo, refletia Marlow. Mas, naquele momento, era o rio que passava a concentrar toda a sua atenção: Subir aquele rio era como viajar de volta aos primórdios da existência do mundo, quando a vegetação cobria a Terra em desordem e as árvores imensas reinavam nas matas. Um curso de água intacto, um grande silêncio, uma floresta impenetrável. O ar era quente, denso, pesado, inerte. Não havia alegria alguma no brilho da luz do sol. Os longos trechos do rio se estendiam, desertos, até a escuridão das distâncias envoltas em sombras54.
Subindo o rio, rumo ao desconhecido, Marlow adentra ao “coração das trevas”, certo de que, em algum momento, haveria honras e tesouros, além de nativos para dominar ou controlar. Marlow lembra que os soldados romanos haviam feito a mesma coisa mil e novecentos anos antes. Aquele era, segundo ele, um dos lugares mais escuros da Terra. A força da experiência, o efeito do encontro com este outro mundo é, mais que a simples aventura, é o ponto chave da narrativa e resulta da visão reveladora do protagonista sobre a condição humana na sua travessia para um mundo desconhecido. A descrição do encontro de Marlow com os africanos, descrito na epígrafe deste texto, foi visto por escritores africanos e internacionais como uma prova do racismo de Joseph Conrad. A análise do estilo do romance, através da representação dos atores sociais, revela a exclusão do povo local, representado sem individualidade, que, como um amontoado de seres, são colocados em segundo plano, passando a fazer parte do cenário para o desenvolvimento da história contada em primeira pessoa por Marlow. Dessa forma, ao longo da leitura do romance percebe-se que apenas os europeus foram nomeados – Kurtz, Marlow, Fresleven, entre outros – ou funcionalizados através de cargos/profissões que exercem, como o médico, o fabricante de tijolos, o gerente, o agente, entre outros. Tal identificação faz com que percebamos os europeus como indivíduos, cada um com vida própria, trazendo-os para primeiro plano. Por outro lado, os africanos raramente são individualizados, sendo frequentemente assimilados e apresentados em grupos ou bandos, ao mesmo tempo em que são objetificados, tomando partes de seus corpos como um todo, revelando o discurso racista sob o ponto de vista do colonizador. Os africanos no romance interagem com o mundo externo, mas não o afetam, sendo antes vítimas de agentes exteriores. São representados apenas como 54
Ibid., p.56.
169 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
observadores de uma realidade e não sentem, gostam, pensam ou falam, corroborando a análise de Chinua Achebe, o qual afirma que Conrad, ao mesmo tempo em que nos mostra uma África em massa, fragmenta os personagens que são tidos apenas como membros do corpo. Contudo, não podemos esquecer que essas representações refletiam também a forma como os brancos viam e tratavam os africanos, afinal, Conrad compartilhava a visão racista de sua época. Nesta perspectiva, a análise do escritor e ensaísta Albert Memmi sobre o retrato do colonizador e do colonizado nos permite perceber como a visão apresentada por Joseph Conrad no romance fazia uma descrição muito fiel das imagens, imaginários e práticas políticas e sociais do processo de colonização europeia na África e na Ásia: O que é verdadeiramente o colonizado importa pouco ao colonizador. Longe de querer apreender o colonizado na sua realidade, preocupa-se em submetê-lo a essa indispensável transformação. E o mecanismo dessa remodelagem do colonizado é, ele próprio, esclarecedor. Consiste, inicialmente, em uma série de negações. O colonizado não é isso, não é aquilo. Jamais é considerado positivamente; ou se o é, a qualidade concedida procede de uma lacuna psicológica ou ética. Assim, no que se refere à hospitalidade árabe que dificilmente pode passar por um traço negativo. Se observarmos bem, verificaremos que o louvor é feito por turistas, europeus de passagem, e não pelos colonizadores, quer dizer europeus instalados na colônia. Tão logo instalado, o europeu não desfruta mais dessa hospitalidade, interrompe as trocas, contribui para erguer barreiras. Rapidamente muda a palheta para pintar o colonizado, que se torna ciumento, ensimesmado, exclusivista, fanático. Que é feito da famosa hospitalidade? Já que não se pode negá-la, o colonizador ressalta, então, suas sombras, e suas desastrosas consequências. [...] Assim se destroem, uma após a outra, todas as qualidades que fazem do colonizado um homem. E a humanidade do colonizado, recusada pelo colonizador, torna-se para ele, com efeito, opaca. É inútil, pretende ele, procurar, prever as atitudes do colonizado (“Eles são imprevisíveis”...) (“Com eles nunca se sabe!). Uma estranha e inquietante impulsividade parece-lhe comandar o colonizado. É preciso que o colonizado seja bem estranho, em verdade, para que permaneça tão misterioso após tantos anos de convivência... ou então, devemos pensar que o colonizador tem boas razões para agarrar-se a essa impenetrabilidade. Outro sinal dessa despersonalização do colonizado: o que se poderia chamar a marca do plural. O colonizado jamais é caracterizado de maneira diferencial: só tem direito ao afogamento no coletivo anônimo. (“Eles são isso... Eles são todos os mesmos”). [...] Enfim, o colonizador nega ao colonizado o direito mais precioso reconhecido à maioria dos homens: a liberdade. As condições de vida, dadas ao colonizado pela colonização, não a levam em conta, nem mesmo a supõem. O colonizado não dispõe de saída alguma para deixar seu estado de infelicidade: nem jurídica (a naturalização) nem mística (a conversão religiosa): o colonizado não é livre de escolher-se colonizado ou não colonizado55.
No caso do romance Coração das Trevas, Marlow parece ao menos reconhecer a humanidade dos africanos, além do selvagem dentro dele mesmo. Dessa forma, no 55
MEMMI, Op.cit., pp.82-83.
170 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
contato com o “outro”, que precede o encontro com Kurtz, ambos igualmente especulares, Marlow começa a questionar o próprio humano nele, homem colonizador, civilizado, em relação ao pré-humano, bárbaro, silvícola. Isso porque é no “coração das trevas”, que Marlow vislumbrou a vida como um ciclo: nascimento e morte; pré-homem e pós-homem, e juntos, ao mesmo tempo e no mesmo corpo, sem salvação, sem saída, sem qualquer metafísica possível, mas o homem, impregnado de vida e morte, impregnado do horror verdadeiro da existência em todas as suas eras. De fato, o maior de todos os selvagens estava logo à frente. Finalmente na chegada ao posto, os boatos perdem a força diante da realidade, quando Marlow vê pessoalmente Kurtz pela primeira vez: Eu não escutava nada, mas através do binóculo pude ver o braço fino estendido num gesto de comando, o maxilar inferior a se mover, os olhos daquela aparição cintilando escuros no fundo do crânio ossudo, que oscilava com espasmos grotescos. Kurtz – ‘Kurtz’ – significava curto em alemão – não é? Pois o nome era tão verdadeiro quanto tudo mais na sua vida – e na sua morte. Parecia ter bem mais de dois metros de altura. Suas cobertas tinham escorregado, e o seu corpo emergia delas deplorável e assustador, como um sudário. Eu via as costelas do seu tórax em movimento, os ossos do seu braço acenando. Era como se uma imagem animada da morte entalhada em marfim antigo sacudisse o punho com ameaças para uma multidão imóvel de homens esculpidos em bronze escuro e reluzente 56.
O Sr. Kurtz, apesar de muito debilitado pela febre, é a própria representação da lei e é um deus para aquela gente, que fazia tudo o que ele mandava. No seu mundo, os que desobedeciam viravam objetos de decoração. Naquele momento da chegada de Marlow, Kurtz havia parado de comercializar marfim e passado a guerrear por ele, enquanto que os africanos matavam uns aos outros em seu favor. E vocês precisavam ouvi-lo dizer: ‘O meu marfim’. Ah sim, eu ouvi. ‘A minha Prometida, o meu marfim, o meu posto, o meu rio, o meu...’, tudo pertencia a ele. Eu prendia a respiração, esperando ouvir a selva prorromper numa gargalhada prodigiosa, capaz de sacudir as estrelas fixas nas suas posições. Tudo pertencia a ele – mas isso era o de menos. O que importava era saber ao que ele por sua vez pertencia, quantos poderes das trevas podiam reclamar a sua posse57.
Figuras 30 e 31: O reino do terror do Sr. Kurtz.
56 57
CONRAD, Op.cit., p.95. Ibid., pp.78-79.
171 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
O Sr. Kurtz havia perdido o controle e começado a comandar danças noturnas que culminavam com ritos indescritíveis que eram dedicados a ele. O Sr. Kurtz era muito mais do que a reprodução fictícia de um homem, conforme atesta Marlow: Vejam bem, não estou tentando desculpar e nem mesmo explicar – só estou tentando prestar contas em nome – em nome – do Sr. Kurtz – da sombra do Sr. Kurtz. Esse espectro iniciado vindo do fundo de Lugar Nenhum me honrou com as suas espantosas confidências antes de desaparecer por completo. Isso porque comigo podia falar inglês. Kurtz original foi parcialmente educado na Inglaterra, e – como ele próprio teve a gentileza de dizer – suas simpatias estavam no lugar certo. Sua mãe era meio inglesa, seu pai era meio francês. Toda a Europa contribuíra para a criação de Kurtz; e com o tempo fiquei sabendo que, muito adequadamente, a Sociedade Internacional para a Supressão de Costumes Selvagens lhe confiara a preparação de um relatório para sua futura orientação. E ele escrevera o relatório. Eu vi. Eu li. Era eloquente, vibrante de eloquência, mas estridente demais, acho eu. Dezessete páginas em caligrafia cerrada. Tinha encontrado tempo para isso. Mas deve ter sido antes que – digamos – os seus nervos começassem a falhar, levando-o a presidir certas danças à meia-noite que terminavam em ritos inomináveis, os quais – até onde pude perceber com certa relutância, baseado no que ouvi em momentos diversos – eram consagrados a ele – vocês entendem? – ao próprio Sr. Kurtz. Mas era um texto excelente. O parágrafo inicial, entretanto, à luz do que fiquei sabendo mais tarde, hoje me parece inauspicioso. Começa com o argumento de que nós, os brancos, em função do grau de desenvolvimento a que chegamos, ‘devemos necessariamente ser vistos por eles [os selvagens] como seres sobrenaturais – chegamos a eles com um poder que parece próprio de uma divindade’, e assim por diante. A partir desse ponto ele levanta voo, e transporto-me com ele. [...] Transmitiu-me a ideia de uma Imensidão exótica governada por uma augusta Benevolência. Fiquei arrepiado de entusiasmo. Aquele era o poder ilimitado da eloquência – das palavras – das palavras nobres e ardentes. Não havia qualquer sugestão de ordem prática para interromper o encadeamento mágico daquelas frases, a menos que uma espécie de nota ao pé da última página, rabiscada evidentemente bem mais tarde com uma caligrafia trêmula, possa ser considerada a recomendação de um método. Era muito simples, e ao cabo daquele apelo comovente a todos os sentimentos altruístas flamejava aos nossos olhos, luminosa e aterrorizante, como o clarão de um relâmpago num céu sereno: ‘Exterminem todos os selvagens!’. E o curioso é que ele parecia ter esquecido esse valioso pós-escrito, porque mais tarde, quando num certo sentido voltou a si, recomendou-me repetidamente que cuidasse bem do ‘meu panfleto’ (como ele chamava), que no futuro haveria de ter uma influência positiva sobre a sua carreira. Fui plenamente informado sobre todas essas coisas e, além disso, como mais tarde fiquei sabendo, ainda fui encarregado de zelar pela sua memória. E fiz por ela o suficiente para adquirir o direito incontestável de destiná-la, se assim decidir, a um repouso eterno na lata de lixo do progresso, junto com toda a sujeira e, falando figurativamente, todos os gatos mortos da civilização. Mas ocorre, vocês entendem, que não tenho escolha. Ele não será esquecido. Pode ter sido qualquer coisa, mas nunca um homem comum. Pelo fascínio ou pelo medo, teve o poder de arrastar as almas rudimentares a uma perversa ciranda mágica em sua homenagem, e também foi capaz de povoar as almas miúdas dos peregrinos de amargas apreensões – teve pelo menos um amigo dedicado, e conquistara uma alma no mundo que não era rudimentar nem estava maculada na defesa do interesse próprio58.
58
Ibid., pp.80-81.
172 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Figura 32: Léon Rom (1861 - 1924), soldado belga que se tornou o comissário do distrito de Matadi , no Estado Livre do Congo, e mais tarde chefe do Exército da Força Pública. No livro O Fantasma do Rei Leopoldo, o autor Adam Hochschild especula que Rom foi a inspiração para o personagem de Kurtz na novela Coração das Trevas de Joseph Conrad. Rom era conhecido por manter cabeças decepadas de africanos em seu canteiro de flores, e manteve uma forca permanentemente no local em sua estação. Sob sua liderança, os agentes colonizadores foram conhecidos por matar assuntos africanos acusados de cometer pequenos delitos. Também escreveu um livro sobre os costumes africanos, pintou retratos e paisagens e foi colecionador de borboletas. Figura 33: Guillaume Van Kerckhoven, Oficial da Força Pública Belga, considerado pelo autor Adam Hochschild outro protótipo para o personagem Kurtz. Foi notório ao contar para um companheiro de viagens que ele pagava os seus soldados negros “cinco barretas de latão [2,5 dólares] por cabeça decepada que lhe levassem durante qualquer operação militar que estivesse comandando. Disse que servia para estimular-lhes a bravura diante do inimigo”.
Sobre a configuração do perfil do personagem Kurtz é importante destacar, conforme aponta o escritor americano Adam Hochschild, no livro O Fantasma do Rei Leopoldo: Uma História de Cobiça, Terror e Heroísmo na África Colonial [1998], que Conrad se manteve fiel à vida real ao criar a figura carismática e assassina que preside o romance, talvez o mais famoso dos vilões literários do século XX. Kurtz foi decididamente inspirado em várias pessoas de carne e osso, entre elas Georges Antoine Klein, agente francês de uma firma de marfim que atuava em Stanley Falls. Klein, muito doente, morreu a bordo, como acontece com Kurtz no romance, quando Conrad pilotava o Roi des Belges rio abaixo. Outro que se aproxima muito do caráter de Kurtz é o major Edmund Barttelot, o homem a quem Stanley deixou no comando da retaguarda durante a expedição para resgatar Emin Pasha. Foi Barttelot, lembrem-se, que enlouqueceu e começou a morder, chicotear e matar as pessoas e que, por fim, acabou sendo assassinado. Um outro protótipo de Kurtz foi o belga Arthur Hodister, famoso por seu harém de africanas e por coletar quantidades fabulosas de marfim. Hodister entrou com muita agressividade em território afroárabe, controlado por guerreiros e marcadores de marfim, foi capturado e decapitado. Entretanto, a legião de biógrafos e críticos de Conrad ignorou quase que por completo o homem que mais se parece com Kurtz. E trata-se [...] [d]o capitão fanfarrão da Force Publique, Léon Rom. É de Rom que Conrad tirou, talvez, a característica mais memorável de seu vilão: a coleção de cabeças africanas que cercam a casa de Kurtz. [...] Rom era um entomologista em potencial. Era também pintor; quando não estava colecionando borboletas ou cabeças humanas, fazia
173 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
retratos e paisagens, das quais cinco sobreviveram até hoje e estão num museu belga. Mais interessante ainda, Rom era escritor59. [...] Por fim, o instinto assassino de Kurtz parece ecoar um outro detalhe a respeito de Rom. Quando Rom era chefe da estação de Stanley Falls, o governador-geral enviou um relatório à Bruxelas falando de alguns agentes ‘cuja reputação é a de ter assassinado grande número de pessoas por razões insignificantes’. Ele menciona o notório canteiro de flores de Rom, adornado com cabeças humanas, e depois acrescenta: “Ele mantém um patíbulo permanentemente erguido em frente à estação!”. Não sabemos se Rom já estava pondo em prática alguns desses seus sonhos de poder, homicídio e glória quando Conrad passou por Léopoldville, em 1890, ou se apenas falou sobre eles. Seja qual for o caso, a paisagem moral de O Coração das Trevas e sua figura central, nebulosa, não são apenas criações de um romancista; são registros de um observador atento, que capturou o espírito do tempo e lugar com uma exatidão penetrante60.
Retornado aos acontecimentos finais do enredo de Coração das Trevas nos é revelado que o Sr. Kurtz está morrendo. Sua doença, seu modo de vida e a selva o derrotaram. Marlow atentamente ouve o Sr. Kurtz, enquanto ele pronuncia um dos mais famosos enigmas da literatura: Suas trevas eram impenetráveis. Eu olhava para ele como se procura divisar do alto um homem estendido no fundo de um precipício aonde nunca chega a luz do sol. [...] Uma noite, entrando, com uma vela, fiquei espantado ao ouvi-lo dizer, numa voz um tanto trêmula: ‘estou deitado aqui no escuro esperando a morte’. A luz estava a um palmo dos seus olhos. Fiz um esforço para murmurar: ‘Ah, bobagem!’, e debrucei-me sobre ele como que paralisado. Coisa semelhante à mudança que ocorreu na sua fisionomia eu nunca tinha visto antes, e espero nunca mais tornar a ver. Ah, não fiquei comovido. Fui tomado pelo fascínio. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Vi surgir naquele rosto de marfim a expressão de um orgulho sombrio, de um poder impiedoso, de um terror abjeto – de um intenso e irremediável desespero. Será que ele revivia a sua vida em cada detalhe de desejo, tentação e abandono naquele momento supremo de conhecimento completo? E exclamou, num sussurro, diante de alguma imagem, de alguma visão – exclamou duas vezes, uma palavra que era pouco mais que um arquejo: ‘O horror! O horror!’61
59
HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do Rei Leopoldo: Uma História de Cobiça, Terror e Heroísmo na África Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.154-155 e 158. Segundo relata Adam Hochschild, Léon Rom publicou um livro ao retornar à Bélgica em 1899. “Le Nègre du Congo é um livrinho estranho – arrogante, apressado e tremendamente superficial. Capítulos curtos cobrem ‘Le Nègre en général’, a mulher negra, comida, animais de estimação, medicina nativa e por aí afora. Rom era um caçador ardoroso, que posou cheio de júbilo em cima de um elefante morto, e seu capítulo sobre caça é tão longo quanto os que falam das crenças religiosas congolesas, rituais de morte e sucessão tribal tomados em conjunto. A voz usada por Léon Rom em seu livro é muito semelhante à voz em que podemos imaginar Kurtz escrevendo seu relatório para a Sociedade em Prol dos Costumes Selvagens. Da race noire, Rom diz: ‘Produto de um estado irracional, seus sentimentos são grosseiros, suas paixões rudes, seus instintos brutais e, além disso, é orgulhosa e vã. A principal ocupação do homem preto, e aquela a qual dedica a maior parte da existência, consiste em estender uma esteira sob os raios quentes do sol, como um crocodilo na areia. [...] O preto não tem ideia do tempo e se um europeu lhe pergunta sobre o assunto em geral responde com alguma besteira’”. Cf. HOCHSCHILD, Op.cit., p.158. 60 Ibid., p.159. 61 CONRAD, Op.cit., p.109.
174 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
Poucos minutos depois, durante o jantar no refeitório, foi anunciado que o Sr. Kurtz havia morrido. Reflexivo, Marlow conta que Kurtz havia declarado uma sentença sobre as aventuras de sua alma na Terra: [...] Depois que eu próprio tive um vislumbre desse limite extremo, entendo melhor o significado do seu olhar fixo que não conseguia ver a chama da vela mas abarcava todo o universo, capaz de penetrar nos corações que pulsam nas trevas. Ele resumiu – ele julgou. ‘O horror!’ Foi um homem notável. Afinal, aquela foi a expressão de algum tipo de crença; havia franqueza, havia convicção, havia uma nota vibrante de revolta no seu sussurro, aquela face apavorante revelava uma verdade deslumbrada – a estranha mescla de desejo e ódio. E não é dos meus próprios momentos extremos que me lembro melhor – a visão de uma amorfa extensão acinzentada repleta de dor física e de um desdém indiferente pela evanescência de todas as coisas – e nem mesmo da própria dor. Não. São momentos extremos dele que tenho a impressão de ter vivido. É verdade que ele deu aquele passo derradeiro, foi além da borda, enquanto a mim foi permitido recuar com meus pés hesitantes. E talvez esteja nisso toda a diferença; só se apresentem comprimidas naquele instante inapreciável de tempo em que ultrapassamos o limiar do invisível 62.
Conforme podemos perceber, Marlow fez a viagem em busca de Kurtz, um comerciante de marfim que se teria deixado influenciar demasiadamente pela magia do continente negro e sucumbido aos instintos selvagens. A história pessoal de Kurtz simboliza a trajetória do europeu civilizado em contato com o “primitivo” continente africano. No início, ele representa toda a cultura do homem branco, sendo ao mesmo tempo poeta, músico, político, comerciante, um polivalente homem da Renascença. Ao final de sua trajetória, porém, já cometeu os mais diversos crimes contra a sociedade civil, que para ele já não faz sentido, e acaba por permitir um crime contra a religião cristã, o de ser adorado como um deus. Marlow e Kurtz são quase como uma só pessoa, duas faces do mesmo ser separadas por um mundo de possibilidades. Marlow é o que Kurtz poderia ter sido, Kurtz é o que Marlow poderia vir a ser. Em sua viagem rio acima, enquanto Kurtz não passa de uma figura mítica formulada em descrições divergentes de outros personagens, Marlow se afasta, aos poucos, física e mentalmente, do mundo dos brancos, retratado como brutal, e adentra a escuridão da selva, símbolo da realidade e da verdade. Mas também esta simbologia é ambígua, e por vezes não sabemos – nem nós leitores, nem o próprio Marlow – de que lado está a virtude ou onde reside a verdadeira escuridão. Coração das Trevas já foi interpretado de diversas formas. Numa leitura historicista, pode ser considerado como uma dura crítica ao colonialismo. Ou, numa visão psicológica, pode ser encarado como uma jornada pesadelo adentro, ou mesmo
62
Ibid., p.111.
175 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
um esbarrão com a própria loucura, da qual Marlow escapa, mas não Kurtz. Ou, para o antropólogo ou sociólogo, o livro pode ser um debate sobre o contraste entre civilização e barbárie. Ou ainda pode ser visto como uma reflexão moral sobre o bem e o mal, que parecem ser os pontos centrais da trama. Um aspecto algumas vezes enervante de Coração das Trevas – mas talvez seja exatamente o que gera seu encanto – é a forma como Conrad deixa o próprio leitor na escuridão, tendo ele de interpretar, por conta própria, o que era aquele horror. As trevas são sempre mencionadas, mas nunca definidas, o horror balbuciado por Kurtz nunca chega a ser explicado, tudo é calculado para que o mistério se perpetue. Ser explícito, como o próprio Conrad escreveu anos mais tarde, é fatal para o fascínio de qualquer obra artística, roubando o aspecto sugestivo e destruindo a ilusão. De qualquer forma, o que quer que Kurtz tenha visto, Marlow também pôde perceber. Essa visão compartilhada formou um elo entre eles. Marlow contraiu também a febre e quase teve o mesmo destino de Kurtz. Portanto, era já o momento de sair da floresta e cumprir a promessa feita à Kurtz. Marlow retorna à Europa, mais especificamente à cidade “sepulcral” (referindo-se, na verdade, à Bruxelas), tomado pela tristeza e pela sabedoria, onde vai para se recuperar de seu estado de saúde física e mental. Cerca de um ano depois, ele decide ir até a casa da noiva do Sr. Kurtz para entregar-lhe uma foto e cartas pessoais. O encontro com a noiva de Kurtz desperta um turbilhão de lembranças, levando Marlow a perceber que foi possível ele conseguir sair das trevas, mas era impossível das trevas sair dele: Estava vivo ali à minha frente, estava tão vivo como jamais estivera – uma sombra que nunca se fartava de aparências esplêndidas e realidades assustadoras, uma sombra mais tenebrosa que a sombra da noite, e envolta com nobreza nas dobras de uma eloquência deslumbrante. A visão pareceu entrar na casa junto comigo – a padiola, os carregadores fantasmas, a multidão selvagem de adoradores obedientes, a escuridão das florestas, a cintilação do trecho de rio entre as curvas indistintas, a batida do tambor, regular e abafada como a batida de um coração, o coração das trevas vitoriosas. Foi um momento de triunfo para a selva, uma incursão invasora e vingativa que julguei ver-me obrigado a conter sozinho em favor da salvação de mais uma alma. E a lembrança do que eu o ouvira dizer naquele ponto mais distante, enquanto as silhuetas coroadas de chifres se agitavam às minhas costas ao brilho das fogueiras, no interior da mata paciente, aquelas frases entrecortadas me voltaram, e tornei a ouvi-las em sua simplicidade sinistra e aterradora63.
Joseph Conrad conheceu as profundezas dessa floresta, viu a natureza das coisas, compreendeu que o que ele havia visto aconteceria de novo e de novo. Por isso, quando 63
Ibid., p.115.
176 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
a noiva quis saber como foi o fim, quais foram as últimas palavras de Kurtz, Marlow preferiu mentir, dizendo-lhe que havia sido o nome dela. Ou seja, o livro termina com Joseph Conrad fazendo Marlow decidir que sequer tentaria explicar isso para a noiva do Sr. Kurtz, porque, conforme disse ao leitor, “teria sido tenebroso demais – decididamente tenebroso demais....”64. No livro O Fantasma do Rei Leopoldo: Uma História de Cobiça, Terror e Heroísmo na África Colonial [1998], o escritor americano Adam Hochschild destacou a importância da obra Coração das Trevas da seguinte forma: No colegial e na faculdade, os professores que discutiram esse livro em milhares de salas de aula, nesses anos todos, fizeram-no em termos de Freud, Jung e Nietzsche; do mito clássico, da inocência vitoriana e do pecado original; do pósmodernismo, pós-colonialismo e pós-estruturalismo. Para os leitores europeus e americanos, era incômodo aceitar a matança em massa, o genocídio ocorrido na África na virada do século, de modo que colocaram O Coração das Trevas muito distante de seu ancoradouro histórico. Lemos o livro como uma parábola para todos os tempos e lugares, não como um romance sobre um tempo e lugar específicos. Duas das três vezes em que foi filmada, mais notadamente em Apocalypse [Now], de Francis Ford Coppola, a história nem sequer se passa na África. Mas o próprio Conrad escreveu: “O Coração das Trevas é a experiência [...] levada um pouco (e muito pouco) para além dos fatos reais referentes ao caso”. Quaisquer que sejam os níveis de significado que tenha o livro, como literatura, para nossos propósitos o notável é a precisão e a descrição detalhada dos “fatos reais referentes ao caso”: o Congo do rei Leopoldo, em 1890, assim como a exploração do território, tinha começado para valer65.
Em Cultura e Imperialismo [1993], o intelectual e crítico literário palestino Edward Said considera ser possível perceber que embora o controle e a exploração de vastos domínios pelas potências imperialistas europeias da segunda metade do século XIX não tenham deixado intocado quase nenhum canto do mundo, nem aspecto da vida cotidiana, seja nas colônias seja nas metrópoles, sua enorme influência sobre as grandes obras culturais do Ocidente continua sendo, em grande medida, ignorada. Neste aspecto, Edward Said procura alertar para a forma como a justificação imperialista sempre foi parte integrante da imaginação cultural na “Era dos Impérios”66 e também como o
64
Ibid., p.120. HOCHSCHILD, Op.Cit., p.153. 66 O historiador inglês Eric J. Hobsbawm apresentou uma análise dos séculos XIX e XX pensada em termos de “eras”: a “Era das Revoluções” (1789-1848), a “Era do Capital” (1848-1875), a “Era dos Impérios” (1875-1914) e a “Era dos Extremos” (1914-1991). Segundo o autor, a “Era dos Impérios” foi marcada e dominada por contradições: “Foi uma era de paz sem paralelo no mundo ocidental, que gerou uma era de guerras mundiais igualmente sem paralelo. Apesar das aparências, foi uma era de estabilidade social crescente dentro da zona de economias industriais desenvolvidas, que forneceram os pequenos grupos de homens que, com uma facilidade que raiava a insolência, conseguiram conquistar e dominar vastos impérios; mas uma era que gerou, inevitavelmente, em sua periferia, as forças combinadas de uma revolução que a tragariam. Desde 1914 o mundo tem sido dominado pelo medo, e às vezes pela realidade, de uma guerra mundial e pelo medo (ou esperança) de uma revolução – ambos 65
177 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
legado imperial continua a afetar – em todas as práticas sociais, ideológicas e políticas – as relações entre o Ocidente e o mundo por ele colonizado. Afinal, conforme apontado pelo historiador inglês Eric J. Hobsbawm, em A Era dos Impérios (1875-1914)[1987], “mais do que qualquer outra, a Era dos Impérios exige desmistificação precisamente porque nós – inclusive os historiadores – não vivemos mais nela, mas não sabemos o quanto dela ainda vive em nós”67. Examinando algumas das obras-primas da tradição ocidental – entre as quais Coração das Trevas, de Joseph Conrad; Mansfield Park, de Jane Austen; e Aida, de Giuseppe Verdi –, Said mostra os estreitos vínculos entre política e cultura na produção e reprodução de um sistema de dominação que envolvia mais do que canhões e soldados: sua soberania estendia-se à maneira de pensar e à própria imaginação dos dominadores e dos dominados. O resultado foi uma “visão consolidada” que afirmava não apenas o direito dos europeus de ocupar terras distantes, mas também a obrigação de fazê-lo, tornando inconcebível qualquer outra visão de mundo alternativa. Neste sentido, segundo Edward Said, toda a questão tratada por Kurtz e Marlow é, de fato, o domínio imperialista, o europeu branco sobre os africanos negros, sua civilização de marfim sobre o continente negro primitivo. Ao acentuar a discrepância entre a “ideia” oficial do império e a realidade tremendamente desconcertante da África, Marlow abala a noção do leitor sobre a própria ideia de império e, acima de tudo, sobre algo ainda mais básico, a própria realidade. [...] Com Conrad, portanto, estamos num mundo que está sendo feito e desfeito quase o tempo todo. O que se afigura estável e seguro – o policial na esquina, por exemplo – é apenas um pouquinho mais seguro do que os homens brancos na selva, e requer a mesma vitória constante (mas precária) sobre as trevas que tudo invadem, e que no final da narrativa se revelam iguais, seja em Londres ou na África. O gênio de Conrad lhe permitiu perceber que as trevas sempre presentes podiam ser colonizadas ou iluminadas – Heart of darkness está repleto de referências à mission civilisatrice, a projetos não só cruéis, mas ainda bem-intencionados, de levar a luz aos lugares e povos escuros deste mundo por meio de atos da vontade e demonstrações de poder – mas também que cumpria reconhecer a sua independência. Kurtz e Marlow reconhecem as trevas, o primeiro ao morrer, o último ao refletir em retrospecto sobre o significado das últimas palavras de Kurtz. Eles (e Conrad, naturalmente) estão à frente de seu tempo por entender que as ditas “trevas” possuem autonomia própria, e podem retomar e reivindicar o que o imperialismo havia considerado como seu. Mas Marlow e Kurtz também são pessoas de sua própria época e não conseguem dar o passo seguinte, que seria reconhecer que o que viam, de modo depreciativo e desqualificador, como “treva” não europeia era de fato um mundo não europeu resistindo ao imperialismo, para algum dia reconquistar a soberania e a independência, e não, como diz Conrad de maneira reducionista, para restaurar as trevas. A limitação trágica de Conrad é que, mesmo podendo enxergar com clareza que o imperialismo, em certo nível, consistia essencialmente em pura dominação e ocupação de territórios, ele não conseguia concluir que o imperialismo teria de terminar para que os “nativos” pudessem ter baseados nas condições históricas que emergiram diretamente da Era dos Impérios”. HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.24. 67 HOBSBAWM, Op.cit., p.19.
178 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
uma vida livre da dominação europeia. Como indivíduo de seu tempo, Conrad não podia admitir a liberdade para os nativos, apesar de suas sérias críticas ao imperialismo que os escravizava68.
De qualquer forma, apesar dos seus “limites”, o livro Coração das Trevas é uma privilegiada fonte histórica para trabalharmos, através da produção cultural, como foram criadas algumas das imagens e dos imaginários europeus sobre a África e os africanos.
BIBLIOGRAFIA ACHEBE, Chinua. “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness”. In: KIMBROUGH, Robert (Ed.). Heart of Darkness A Norton Critical Edition. New York: Norton, 1988: 251-262. ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Persistência de Trevas”. In: CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. ARISTÓTELES. Arte poética. São Paulo: Nova Cultural, 1991. BRUIT, Héctor. O Imperialismo. São Paulo/Campinas: Atual/Editora da UNICAMP, 1987. BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África negra: 1880-1914. São Paulo: Perspectiva, 1974. CAMPOS, Flavio de & MIRANDA, Renan Garcia. A Escrita da História. São Paulo: Escala Educacional, 2005. CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000. CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1990. ______. Debate: Literatura e História. TOPOI, Rio de Janeiro, nº 1, 1997. CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. CONRAD, Joseph. O Coração das Trevas. Editorial Estampa/BIBLIOTEX, S. L./ ABRIL/CONTROLJORNAL, 2000. COUTINHO, Afrânio. Notas de Teoria Literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. FERREIRA, Antônio Celso. “A Fonte Fecunda”. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tânia Regina de. O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. HERNANDEZ, Leila M. G. Leite. A África na sala de aula: Visita à história contemporânea. São Paulo: Summus, 2010. HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. HOBSON, John A. Imperialism: a study. Nova York: James Pott and Co., 1902. HOCHSCHILD, HOCHSCHILD, Adam. O Fantasma do Rei Leopoldo: Uma História de Cobiça, Terror e Heroísmo na África Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
68
SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1995. pp.62-63.
179 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
IGLÉSIAS, Francisco. “Natureza e Ideologia do Colonialismo no Século XIX”. In: ____. História e Ideologia. São Paulo: Perspectiva, 1971. KIPLING, Rudyard. The White Man’s Burden. McClure’s Magazine, nº 12, p.290-291, Feb. 1899. LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre. História: novas abordagens; novos objetos; novos problemas. 3 vols. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976-1977. LÊNIN, V. I. O Imperialismo, fase superior do Capitalismo. São Paulo: Global, 1982. MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. “PRATT, Mary Louise. Os Olhos do Império. Relatos de viagem e transculturação”. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.20, nº39, p.281-289, 2000. MAGDOFF, Harry. Imperialismo: da Era Colonial ao Presente. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. MURFIN, R. C. (Ed.). Case studies in contemporary criticism: Heart of darkness. Miami: Bedford Books of St. Martin Press, 1996. NEMMI, Albert. Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. OLIVA, Anderson Ribeiro. Lições sobre a África: diálogos entre as representações dos africanos no imaginário ocidental e o ensino da História da África no Mundo Atlântico (1990-2005). Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História. Universidade de Brasília. Brasília, 2007. PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru/São Paulo: Edusc, 1999. RENOUVIN, Pierre & PRÉCLIN, Edmond. A época contemporânea. São Paulo: Difel, s.d. RHODES, Cecil. The Last Will and Testament of Cecil John Rhodes. With elucidatory notes to which are added some chapters describing the political and religious ideas of the testator (edited by W.T. Stead). Londres: Review of Reviews Office, 1902. SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. ______. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. SARTRE, Jean-Paul. Colonialismo e Neo-Colonialismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1968. SEVCENKO, Nicolau. A literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983. VV. AA. História geral da África. 8 Vols. Brasília: Unesco, 2010. WESSELING, Henk. Dividir para dominar: a partilha da África (1880-1914). Rio de Janeiro: EdUFRJ/Revan, 1998. Artigo recebido em: 25 de Agosto de 2014 Aprovado em: 06 de Outubro de 2014
180 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com
181 Revista Poder & Cultura. Ano I. Vol. 2. Outubro/2014|www.poderecultura.com