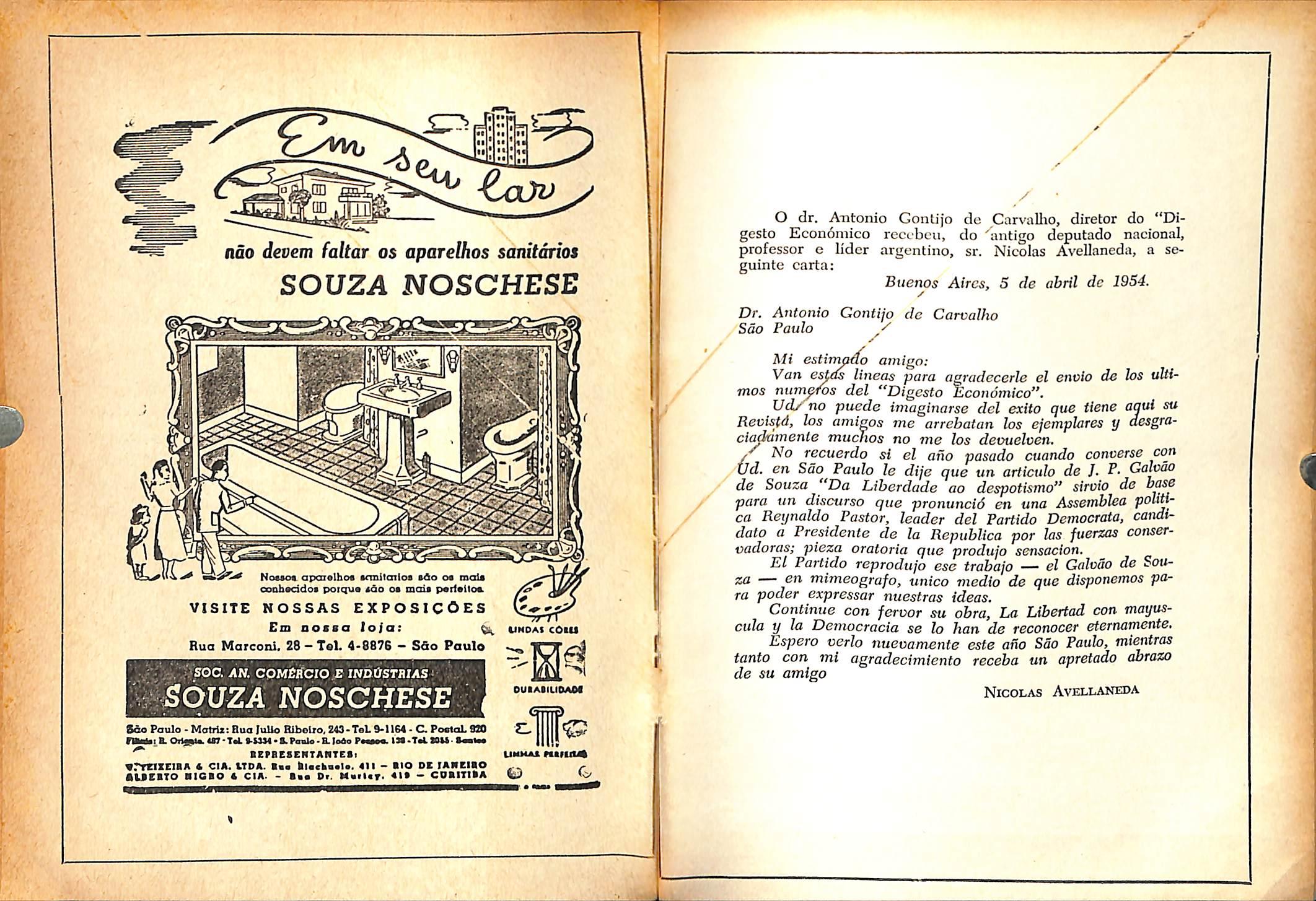UIlibMU ECONOMICO
SOB OS auspícios oa ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E oa FEDERAÇÃO DO COMERCIO 00 ESTADO DE SÃO PAULO
A inlcrvonção do Esiado na Economia — Otávio Gouveia de Bulhões
Inlervenção do Estado — Hermes Lima
Consldoraçoos sôbrc as indústrias químicas do base no Brasil Silvio Fróes Abreu
Desapropriação por intorôsse social Carlos Medeiros e Silva
Aspectos do padrão do vida no Brasil — João Jochmann
Mistério do Conlinento nogro — José Pedro Galvão de Sousa
Ensaio sôbrc a atual situação política do Brasil — Mauro Brandão Lopes
Situação econômica do Brasil — Luís Mendonça de Freitas

Miranda Afrânio de Melo Franco
Organização agrária João Henrique
,^A sidorurgia na América Latina — Pirnentel Gomes
Ab sociedades do contrôle — Bernnrd Pajlste
Uma áron política - América Latina — Themistocles Cavalcanti
Enquadramento do DASP no esquema do xeiormn do sistema administrativo da União — Arízio de Viana
O projoto da Lei Rural — José Testa
Projetos portuários da Comissão Mista — Giycon dc Paiva
O reccnlo salário mínimo — Aldo M. Azevedo
T’
.S’.S’ .S’S^^i SUMARIO
N.O IIS — JUNHO DE 1954 — ANO X
O DIGESTO ECONÔMICO
ESTA A VENDA
nos principais pontos dc jornais no Brasil, ao preço de Cr$ 5,00. Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos a suprir qualquer encomenda, bem como a receber pedidos dc assinaturas, ao preço de Cr$ 50.00 anuais. e
Agento geral para o Brasil FERNANDO CHINAGLIA
Avenida Presidente Vargas. 502, 19.o andar Rio do Janeiro Espíndola, oro n, 49. Maceió.
Praça Pe-
Agóncia Freitas. Rua JoaQuim Sarmento. 29, Manaus.
Bahia: 621, Fortaleza.
Paraná: J. Ghlagnone. Rua 15 de No* vcinbro, 423. Curitiba.
Pernambuco: Fernando Cii'naglla. Hua do Imperador, 221, 3.o andar. Recife.
Piauí: Cláudio M. Toto, Teresina.
Rio do Janeiro: Fernando Chinaglla, Av. Presidente Vargas, C02, 19.o andar.
Fi. 3G1.
R. Saf.'L=?a°/a êLTtsS.Sor. Copolillo & Jerònimo Monteiro
Goi^: João Manarino, Rua Setenta A Goiania.
Maranhão; _, Livraria Universal, Rua Joao Lisboa, 114, S5o Ltüz.
Mato Grosso:
Z-.4 n .j Carvalho, Pinheiro & Cia.. Pça. da República, 20. Cuiabá.
Minas Gerais: Joaquim Moss Velloso Avenida dos Andradas, 330 Belo Horizonte.
Pará: Albano H. Martins & Cia., Tra vessa Campos Sales, 85/89, Belém.
Paraíba: Loja das Revistas, Rua Ba rão do Triunfo, 510-A. João Pessoa.

Rio Grande do Norte: Luís RornSo, Avenida Tavares Lira, 48, Natal.
Rio Grando do Sul: Sòmcnte para Por to Alegro: Octavio Sagebln. Rua 7 de Setembro, 709, Porto Alegre. Para loca*s fora de Pórto Alegre: Fernando Ihinoglia, R. de Janeiro.
Santa Catarina Pedro Xavier & Cln., Rua Felipe Schmidt 8, Florianóp.
Sa© Paulo: A Intelectual, Ltdn., Via duto Santa Eílgônia, 281, S. Paulo.
Sergipe: Livraria Regina Ltda., Rua João Pessoa, 137, Aracaju.
Território do Acre: Diógenes de Oli veira, Rio Branco.
l
,k.b*

llili ;ü:ir íü:;ss llll ill IIII III llll III ft MCO DO EST4D0 DE 5Ã0 PAULO
SEGURANÇA INDUSTRIAL
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Fundada em 1919

^^^CAPITAI^HEALIZADO: CrS 4.000.000,00
Segur^: Incêndio, Acidentes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Ferroviários, Rodoviários, Marítimos, Aeronáuticos, Auto móveis, Roubo e Responsabilidade Civil.
Reservas Estatutárias e Extraordinária ate 31-12-53:
Cr$ 44.850.666,50
Sinistros pagos até 31-12-58:
Cr$ 449.731.283,30
Presidente: ANTONIO PRADO JUNIOR
Malriz no Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 137
Edifício Guinle — End. Telegr.: "SECURITAS"
Sucursal em São Paulo: Rua Boa Vista, 245 — 5.o andar
Prédio Pirapitinguí Telefones: 32-3161 a 32-3165
J. J. ROOS — Gerente Geral
.p~rT .ir A (i h .V V“-^ /k # > V > 1) ● ● ^vÍ!üS »< ..prefira para T IIr SERVIÇOS TA0UI6RÁFIC0S
>■ SOCIEDADE TAQUIGRA'FICÁ BANDEIRANTE i'
rif N»-. V
a
RUA
SENADOR FEIJCÍ. 189-2® ANOAR-TEL. 35-4093-35-4213-Sy6-7 - S. PAULO'
ilT'
’* / í: V
A MAIOR garantia EM SEGUROS ^1.L J 1^, <

o ir> ‘i- co I - CM !● C0 ç-l TJ CD 0 CM ■O CM c r I- O m / i> i*; 0 r— o 9 0 o. '/i ●A 'A ''' C/> LO y. Vi « t. u u 5»»n*i’‘ ●O CJ c< v> j] OI a ■" 0 c n n e f 0 o ●T\ LT-D T a a o a. ●r> 9 e .-3 *9 a *> c> e o *9 C LT3 9 O rt a o e oe ti c ■n “M M c o OJ o o A C > ■â< WCO'*^Ifl N ^ , h*'« —' c eí m’ C4 U9 O O c o a « >ô « 5i« a cn *9 « 3 < 3 <3^ « w. o C a ti 9L P CL 4) O «1 ,, O 4» 3 c/> VI o C t: w 9 c o ■3 « ■= C (J i O o o tA v> O c 9 > O e *c Cl M- a ec «j C4 ooeeeoooo o^i^c©oi^eo©wirt C> irt h* "« © -^WCOWOíOrtNCO M'CÒ'Í0'r'ít^C'« 9'C^I/5NC'0'*0>ô l^COiíNWWO^N M eg ●B-§ 9 ●ri C*) -c 1£? o 9 ro 9 A ●- «^P > « D“ bO ●A 9 SL 9 9 *3 n = *3 3 - S V) ^ O O S o «= 3 -y> bL i m O O c. A 9 9 *3 ÚC c 9 < Ui |3 IL-i 2is< C/) O </> o o a c âs 3 9 O ●9 cg 3 O 3 “st 9 9 9 O V e a C o 9 ■n a v> 9 9 9 9 9 9 ● tn *3 -9 O 3 1^ *9 a oí if) <5 Ift !●= ° D. Q. o P o S c o cs -Ê 9 ■T3 S 1 3 9 9 CL O ● 9 61 .o 9 a Cu o. > B 9 O -C O- t* *0 9 iTi JÜ u e < V í< 3 e ● "2 oc (0 UJ < O «●“o CO * ●- c m O CO 0 CO ●5 z 0 T. 0. < CO tj *r < V) 0 CJ ^ íl O CO 9 V> m A < IO C4 I S o a 5'5 Oí P .2 « o SA ●0 o i; s o ’ ^ CA Q C tf) O e ® ® . 5‘-õ I I 1 o. w 2 3 9 o o > .5 ● o 9 ● 9 a a u o 0 u ^ = -a z 0 O ■D UI a a a :2-9 â s a 9 ●C a OT a 0 Q£ í/i ^ CA GA «« , 0 3 c o □ p g V c .2. O ^ ~ o o « «A k. 1*9 K . ,1'I.IJS Is = c S 5 .E S* 'i 3 riü lü ^ ü. â 9> c 4, V) a tf) > tf) tfí O z CO r V c fO 09 < < ca c«a
Banco de Crédito da Amazônia S.A.
Sétlr: Hr.LÍ-iM tlr) P.ir.i
í Capital:
Cr$ 150.(HK).OOO.ÍJO
.is; Cr$ n}7.íi-'i7.5;Jl,.S()
A maior ori'ani/a<,7ío h.mcária <lo N'ortc do País
C.u\)Tnn(;(is — Dcpnsili)^ — Emprrstinios — Descontos
A(;i>XC;iAS:
Aí;éncía Cr.ntral — Ik-lc-in (Pará)
Altaniira (Pará)
Bòa Vista (Terr. do Hi
íü Brancü)
Cruzeiro do Sul (Terr. do Acre)
Cuiabá (Mato Grosso)
Cuaíará-Mirim (Terr. do Gnaporé) Itncoatiára Amazonas)
Macapá m-rr. do Amapá)
Manáus í Aniazònas)
l’arintins (Atnazòiias)
Pedro Afonso (Goiás )
Porto Alegre (H. Cí. do Sul)
l’òrlo \'elli(j ('i*err. do Guaporé)
Pio Hranco ('1'irr. do Acre)
Kio de Janeiro (O. Federal)
Santarém (Pará)
São Luiz (Maranhão)
Sáo Paulo (S. Paulo)
COHHKSPOXDENTHS:
Alenqiier (Pará)
Brasiléia (Terr. do Acre)
Faro (Pará)
Itaituba (Pará)
fiiriilí (Pará)
Maués (Ainazònas)
Monte Alegre (Pará)
ül)idos (Pará)
Orixiininá (Pará)
Xapuri (Terr. do Acre)
AGÊNCIA EM SÃO PAULO:
Rua Bôa Vista, 43
Telefones
-
Caixa Postal, 7.251

Gerência: 32-6332
Contadoria: 33-3819
Armazém de Borracha: 3-0335.
I
f
●Eis a proteção que faltava para os produtos embolados cm pequenos sacos ou volumes do papcli FARDOS MULTIFOLHADOS BATESI Fobricodos com diversos camodas de papel Kraft super-resistento u apresentando quatro diferen* tos tipos de fechamento, os FARDOS MULTIFO*
LHADOS BATES representam o mais prática 0 econômica embalagem para uma grande vo* rjedode do produtos.
ESPECIILMENFE HECOMENDBDaS PJIflB BS
INDÚSrmOS OE BCÚCBR, FBRINHB. SBl. ClfE. ETC.
Peca maiores informacAes sObre os .Fardos Muilifolbados Bates e suas aplIcacBes
ECONOMIA
Peiipam Mmpo ● idOo if* obro nos opêrO' (8«s at trensport*, carga, cféS<argo a arma* sanomanto. Vdríoi fomaabos o copocttfadas*
FACILIDADE
Abrtnfsa a racfaam>sa nonualmtnf*. P«rinllem o ●nfordamanto rápido a a ImacUato rarlrodo do produto embalodo.

PROTEÇÃO
Protagam o predufo contra mlsturds a can* tominarãai. Cvltaor romplintntos a voio^tntof doi socos dt papel.
BUTES VniVE BllG CORPORaTlON OF BRflZIL
SAO PAULO (Matriz)
Rua Barão de Itapetininga, 93 - 11.* And, Fone: 34-5183 - Calxo Postal, 8.111
RIO DE JANEIRO; Avenida Presidente Vargos, 290-4.° And. Solo 403 - Fone: 23-51B6
EnderSço Tetsgrdfico: "BATESBAGS
fl
0 transporte e armazenamento de açúcar
V- * 5
i
REPRESENTANTES EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL 1 Js.'
,1-
DIGE8T0 GCONliNICO
Ml nécrn
riMiuu wam
fwWkv^o sefc «f «impMm ém
usKUCiocwiRciuu m ruu
RHUCU n CgMtRCH N UUBB DE SlB rini
Diretor: Aatonio Gonlljo d» Carvallio
o llij^esto Econômico
publicará no próximo número: Econômico, órgão de in® ílnancelEUKÁFRICA, UM MUNDO QUE SE KEFAZ — José Pedro Galvão de Souza
DslM 4 ®® responsabiliza aaaos cujas fontes esteiam devld^ente citadas, nem nelM conceUos emitidos em arUgos "Lssi-
e
Acelta-se ín*.ercâmbio com publl-
Econômico
Ano (simples) ” (registrado) Número do mês Atrasado: Cr$ 50.00 Cr$ 58,00 Cr$ 6,00 Crj 8.00 V \
Rua Boa Viila, 51 9.0 andaz
Telefone; 33-1112 — Ramal 19

São
Paulo
Dorival Teixeira
^ ■
»
% f
●
●l ► K
» y ■s. < V
INFLAÇÃO Vieira 0
PARANÁ, E A SUA ECONOMIA >Brazilio Machado Neto Na transcrlçSo de dtar o nome Econômico. artigos pede-se Dlgofto do
PIMENTA BUENO — Laudo de Almeida Camargo
ASSINATURAS; Dlgeilo
Redação e Administração:
àf 4 JU'
Caixa Postal, 6240
A íntervengão do Estado na Economia
Otávio Couvkia dk Uulhües
Qn. Presidente, se bem me recordo, o Sr. FiUprtínio Gudin foj o primei ro a fnzer considerações a da matéria. Depois, sobre ela opina ram os Srs. Carlos Medeiros e Seabra Faprimdes. Afinal, foi suprerido um c.squema, de maneira a facilitar a di.sciis.são. O Sr. Hermes Lima incumbin-se, brilbantomonte. de ●tear a di.scnssão. Fez-nos uma prelocão, procurando definir o quo 6 o Fstado, o, numa seprunda preleção es tudou a intervenção do Fstado na vida econômica. O Fstado .«Jenipre inter veio na economia, em todos os tem pos. Nos dois últimos séculos, do Adam Smitb até 1014, interveio sentido do auxiliar a iniciativa par ticular, 0. após 1014 até dias, a intervenção do Fstado rnctorizou. principalmento.
Irespeito norno os nossos se cacomn re-
cruladora das relações de trabalho.
Acbci feliz a Icmbraima do Sr. Hermes T/ima de ressaltar sas Constituições de 1891 como expressões dessas duas tendên cias de intervenção do Estado. Primeira, do 1891. há vários disnositivos no sentido de admitir a intervencão do Estado nara assGjrurar iniciativa particular, mas .sem refe rência alffuma ao trabalho: aue a Constituição de 1946 é até lixa em matéria de intervenção do Estado nas relações de trabalho.
Podemos, admitir tenha havido modificarão na doutrina orientando a intervenção do Estado
O ttosso mero. as duos meusário publica, nesse mí- exposições que 0 ilustre economista 0/«i;ío Gouveia de Bulhõe\\ autor de lúcidos e ohjcticos trabalhos, no Conselho Nacional de Economia, fõz no Conselho 7 rVnico da Confederação ' Nacional do Comércio, conclov

e que
ate 1914 diante? Creio — G, depois, de 1914 que podemos admitir mesma.
em que a economia é a É bem verdade
, Que os economis¬ tas socialistas costumam dizer a economia clássica é uma economia individualista
que e que, depois do Marx, e que surpriii a idéia de nomia. uma eco- :a ^ Evidentemente, porém, aí K f ba mais um jopro de palavras do que uma contribuição construtiva. De fa to, existem processos de análise economica cm que se focaliza individualmente n empresa ou 0 ponsiderada
consumidor dual. Mas do conjunto da
, posição indivisempro persiste a idéia
em ^ economia, porque a economm 6 parte da ciência social o nao poderiamos admitir mia individualmente uma econoconsiderada.
Escrevi,_ há algum tempo, sobre a contribuição de Adam Smith sido êsse estudo publicadovista Brasileira de Economia”, nú mero de março de 1952. Peço licen ça para ler o que, então, que acredito J
●J.*
] i' í
í
A\
.1 «
congrega velhos c assíduos colaborado res do "Digesto Econômico". i
ns nos0 de 1946 Na a ao na.sso prouma ocomímica. sua
tendo na “Reescreví, por que esclareça
, de certn maneira, o problema em foco,
Dizia o seguinte:
Quando Adam Smith publicou Kiqueza das Nações”, a Ingla terra vivia uma fase governamen tal das mais deploríiveis.
O padrão de honestidade e de competência dos governantes, «lue Smith conheceu, era incrivelmente
O Governo inglês, naquele tem po, estava em mão de uma classe aristocrática corrupta, cinica, <iue se amoldava ao tradicional cantilismo
mernão tanto por convic-
o <iue çao. . . ínas por não saber melhor fazer.”
noçíics e da piíicura; depois como político da economia, combatendo n íntervendo Kstado, dentro do ambiente As idéias de Adam çao em ípu; viveu.
de coincidência do suprimento
Smitli, (p.anto ã livre produção e ao livre comércio, eram no sentido de permitir atingir-se ao consumo, no

r O [iróprio Adam Smith baixo”, diz-nos o professor Viner.
impoiMancia l)ase
Nesse ambiente de incapacidade, era natural que Smith confiasse mais na iniciativa exdusivamente particular do va mal articulada vernamental.
.'■eu maximo. tem jiassagem (luc, geralmente, não (' citada, (|Uc me parece de grande 0 (juc fundamenta a economica moderna, quando afirma que o consumo é o único fim. e pj-íipósito de tótla a produção. O interêsse da jirodução deve ser con templado somente naquilo que fôr t.ecessário iiara atender ao consumo. Nestas condições, o objetivo da cco-
luimia é o consumo.
que nessa iniciaticom a ação go-
como coorprogresso econômico ou como empreendedor é, portanto, na economia de Adam Smith, consideração acessória. uma
A exclusão do Estado denador do
Ricardo \'em então que tinha maior capacidade de síntese e conju ga mellioi- o consumo com a produção, ox))ressandü-se muito sôbre os proble mas de distribuição, princvpalmente (piando dá certo aspecto dinâmico à noção de valor.
Pode-se porfeitamente, conside
a i ecnrazao ao pi‘ofessor
Vinei quando afirma que os adcjitos do “laissez faire” não encon tram apoio na “Riqueza das Na ções”, quando dizem que o Gover no não deve intervir na indústi-ia
e no comercio por iitividades pociiliajos culares”.
serem essas aos pjtrii
acréscimo
balho seria
rar o ol)jetivo da Economia como sendo o aumento do consumo median te o acréscimo da produtividade. O de produtividade do traassim, o meio de» atin gir ao objetivo do aumento de con-
sumo.
ouantidade.
(jue os muito favoráveió
Essa foi, digamos assim, a base do lançamento da livre iniciativa. A-1\. herdade cpie Adam Smith pedia ern fl a libcrdiulo do pndor produzir em grande ijuantidado. Esse o objetivo * fundamental da economia ocidental, H liberdade para in-oduzir em grande Ora, por isso mesmo é economistas clássicos eram aor^ cmpieendcdo-
L ● - >
J^icKsru liCüNÚ.suco 8
« 41 a
f
U
n
i
De forma alguma, a presença ou ausência da intervenção estatal participa do.s fundamentos dí nomia lançada por Adam Smith. Creio assistir I
Assim, devemos considerar Adam Smith de duas maneiras: primeiro, fundador dc princípios cconópiincipalmenle, aó como micos, trazendo,
i*e.s o contrárúo.s ao.s monopólios porque o monopólio da era mercan tilista tinha por objetivo não proiliizir em ciuantidade e sim obter lu cros através da escassez. Essa, por tanto, é (juc é a grande diferença en tre a era mercantilista e a nova era da economia ocidental, usando uma linguagem spengleriana.
(Jual é, então, o sentido da evo lução das teoria econômicas? A ex periência mostrou que a relação en tre a variação de consumo c da produtiviilade não se mantém constante.
O pensamento econômico, nesses últimos tempos, procura determinar relação entre a variação da produ tividade e a do consumo.
palavra — trabalho — na Constitui ção. Vejo-a como sinônimo de emprêKo. Tenho a impressão de que o tra balho, na Ordem Econômica da Cons tituição Federal, deve ser compreen dida como problema de emprêgo e não ; como amparo especial a um fator de produção.
I
a sumo.
A proteção ao trabalho decorre da verificação desse desequilíbrio entre a produtividade e o conO termo consu-
mo é empregado no sen tido, realmente, de bens acessíveis serviços
e a se
grande massa dos consumidores.
Ora, esses estudos foram aprimora dos, exatamente, a partir de 1914. De pois da guerra de 14 adveio uma infla ção tremenda que determinou um de sequilíbrio acentuado entre a variação do consumo e a variação da capacida de de produzir. Depois, então, de 1923 a 1928, deu-se o inverso, houve um desequilíbrio entre a capacidade de produtividade e a capacidade de con sumo. Assim, os desempregos foramacumulado, provocando forte preo cupação aos políticos, às autoridades, aos economistas, que sentiam êsse grave defeito da economia de expan são, que, ciclicamente, determina uma depressão.

É dessa maneira que interpreto a
É bem verdade que a Constituição tem uma série de dispositivos que os distintos colegas podem dizer que se prende muito mais à remuneração do trabalho do que ao alegado problema de emprêgo. Perguntarão: que tem a ver o salário mínimo com o desem prego cíclico? De fato, não há rela ção direta. Admito a existência dêsse salário mínimo como exemplificação de um outro dispositivo, que a Constituição inclui, ou seja 0 art. 148, onde se diz:
“A lei reprimirá toda e qualquer forma de abu so de poder econômico, inclusive as reuniões ou agrupamentos de empresas indi viduais ou sociais, seja qual fôr a sua natureza, que tenham por fim dominar o mercado nacional, eliminar a concorrência e aumen tar arbitràriamente os lucros.”
Ora, bem sabemos que o número de operários não qualificados é gran de, pois estamos num país de eleva da taxa de natalidade, de modo que há um afluxo permanente de traba lhadores e os compradores desse ser viço, os que vão admitir os trabalha dores, são em número mais ou me nos reduzido. O comprador está em ,
posição mais ou menos monopolística e os que oferecem o trabalho es tão em posição de livre concorrência acirrada. Assim, o artigo 157 viria
i!
9 DiGi-sTo Econômico
!
a ser, penso eu, uma exemplificação, ou uma consequência do ’ prio art. 148. proTanto é isso verdade que também se protege o pequeno la vrador. Quando o governo deter mina, em lei, que os preços dos dutos de gêneros alimentícios amparados pelos preços mínimos, na . realidade, o que o govêrno está fa zendo é adotar

proestão o princípio geral do art. 148 da Con.stituição, porque o nú mero de produtüre.s de mentícios, no setor rural, niuior dü que o número de compra dores, que e relativamente diminuto. f>e^almente. nas grandes safras » cornm'' "" é abundante, compia assume um caráter monopolístico. Força-se i| baixa, dizendo-se haver mm duto
genero.s ulié muito u a proD em excesso e mais . K ^ mais, em países nosso, onde há 1^/ armazéns, ' ticalmente.
g-' êsse defeito, lei do
(i(Uü ú\z Quu hú “Proibição dc diíeren* çu dc salários purn um mesmo tru> bulho por motivo dc idade, sexo, na cionalidade ou csUido civil.”
Aí tem-se cm vista evitar o abuso do empregador, que pode querer ti rar partido do mais fraco, ou fugir a um salário mais alto, pagando me nos ii(|uele <iue não conseguiu ou não consegue colocação melhor.
u'
f
esc o Govê y
como o assez de o preço cai Para vercorrigir rno, por meio da preço mínimo, assegura a re> trabalho dos agriculç. toies, da mesma maneira como estal mínimos para os l. tiabalhadore.s.
Não podemos considerar
os san.o I,
'I'üdo.s êste.s dispositivo.s, a men ver, se ligam ao art. 148. Tanto po deríam .ser aplicados u salários como a (jualtiuer outra espécie dc remune ração, desde que o Estado saiba que pode haver abuso de poder econômi co poj- parte dos que pagam a remu neração. Entretíuitü, o in ciso IV já é de natureza di ferente. Está mtimamente ligado ao problema dos lu cros econômicos, constituin do, de fato, a parte nova da Constituição. Focaliza u ligação do consumo ã pro dutividade, quando estabelece “participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e pela forma que a lei determina”.
n
O inciso IV é, de fato, a novidade constitucional, novidade no sentido da complementação da idéia lançada por ADAM SMITH e RICARDO, pe la qual o fundamental objetivo da economia é aumentar o consumo através do aumento da produtivida de. Assim, cumpre-nos regular o au mento dos salários em coiTcspondência com o aumento da produtivi dade do trabalho. Esta é que é a ver dadeira distinção que observo entre a Constituição de 1891, e a Consti tuição de 1946.
Embora o esquema do Prof. Eer-
i ■ A . :●
10 Dicesto Econômico 1 V
11
lários mínimos como a expressão de um sa ario capaz de satisfazer as necessidades normais de determi nado padrão de vida. O salário mí nimo e mero anteparo à possibilida de de abuso de poder econômico. Por tanto, se quisermos ser realistas, de vemos considerar o art. 157, li V.
como um caso especial, ou melhor, como um caso característico do art 148.
Vejamos outro caso. Analisemos, por exemplo, o n.° II do artigo 167
mes Lima não tivesse entrado nou tros pontos da intervenção do Esta do na Economia, desejaria aflorar alfiriins outros aspectos e, para tan to, peço permissão para ler um tre cho do parecer dado pelo Conselho Nacional dc ICconomia, abordando o problema da intervenção do Estado da scíjiiintc maneira:
Tal con;o ocorre com os trans portes e a cnerffia elétrica, presas metalúrpficas muitos casos, nuo se apresentam em número suficiente para assegurar suprimento em livre concorrência, devendo, assim, o Estado, dada portância desses produtos, nhar a atuação das companhias, o propósito do evitar a especulação nos preços e, mesmo, impedir a de cadência de sua produtividade.

Uma das finalidades do Estado, próprio senso econômico, é zelar pe la produtividade.
as cme químicas, em um a imacompacom >» no vez menor e que, por serTais que cotr
Por força dc condições técnicas c financeiras, é crescente o número do casos em que a produção se pro cessa em círculo cada de unidades produtoras
sua vez, obriga a ampliação dos \ÍÇ0S fiscalizadores do Estado, produções, pelo número exíguo dos produtores e pela importância têm no consumo, tornam-se em ati vidades econômicas de interesse letivo.
Em outros termos: "Elas se tor nam de interesse coletivo porque o I número de produtores é diminuto procura do consumo é acentuada, vindo, ainda, de base para uma ção de finalidades econômicas.”
G a serporca-
Conseqüentemente, tais produções tranaformam-se em produção de ráter de sei*viço público.
Dc acordo com a Constituição, a produção pode ser destacada em dois grupos: um em que se reconhece a priori a existência do interesse co letivo; e outro em que o reconheci mento é feito a posteriori. Neste, interesse coletivo revela-se pela "In tervenção econômica”. Naquele, há a indicação prévia de ondedor, ao iniciar a sua atividade, já o fará como prestador de serviço público.
0 que 0 empre-
São duas espécies de serviço pú blico: 0 serviço cm que o empreende dor leva a efeito o empreendimento mediante concessão; e o serviço pú blico a posteriori, em que êle se torum verdadeiro executor de na - servi ço publico, quando o Estado reconhe ce que êsse empreendimento passou ter caráter de serviço público.
A Constituição”, diz a Exposição do Conselho, "estabeleceu dois tipos de normas de reconhecimento de i terêsse coletivo:
a in^ . 0 que se verifica previamente e dá ensejo à concessão, 0 0 que se depreende do curso dos acontecimentos e dá lugar à tervenção econômica”, em virtude da qual a atividade particular é in tegrada na esfera da atividade oública. Convenhamos, porém, que em nenhum dos dois casos se impõe a conjugação do serviço público com a transferência do patrimônio do
u:inparticular para o Estado. Tanto pode o Estado administrar e financiar uma produção que não seja de interesse geral, como pode um particular ad ministrar e financiar, com recursos próprios, um empreendimento de fundamental interesse coletivo, primeiro caso, muito embora o pa trimônio seja estatal, não há servi ço público; no segundo, o serviço é
No
DXCESTO ECONÓ^^CO 11
<<
I
caracteristicamente público, embora se trate de patrimônio particular.
tf CVlco-
to de vista nacionalista, a tendência ? intervenção do \ ■ é para ampIiar-se a
Damos ênfase a êsse aspecto por que verificamos que, ültimamentc, o Govórno, reconhecendo a importân cia de vários serviços, que são. dentemente, de caráter coletivo,
Kstado; se a corrente 6 mais favorá- 1 vel às idéias liberais, há uma tendên- ( cia de considerar-se de maneira mais í estrita a intervenção estatal. Mas essa ordem de idéias não me parece inteiramente satisfatória, embora re- mo sejam, por exemplo, a energia elétrica, o petróleo e alguns endimentos no campo da metalurgia e da química, vem entendendo
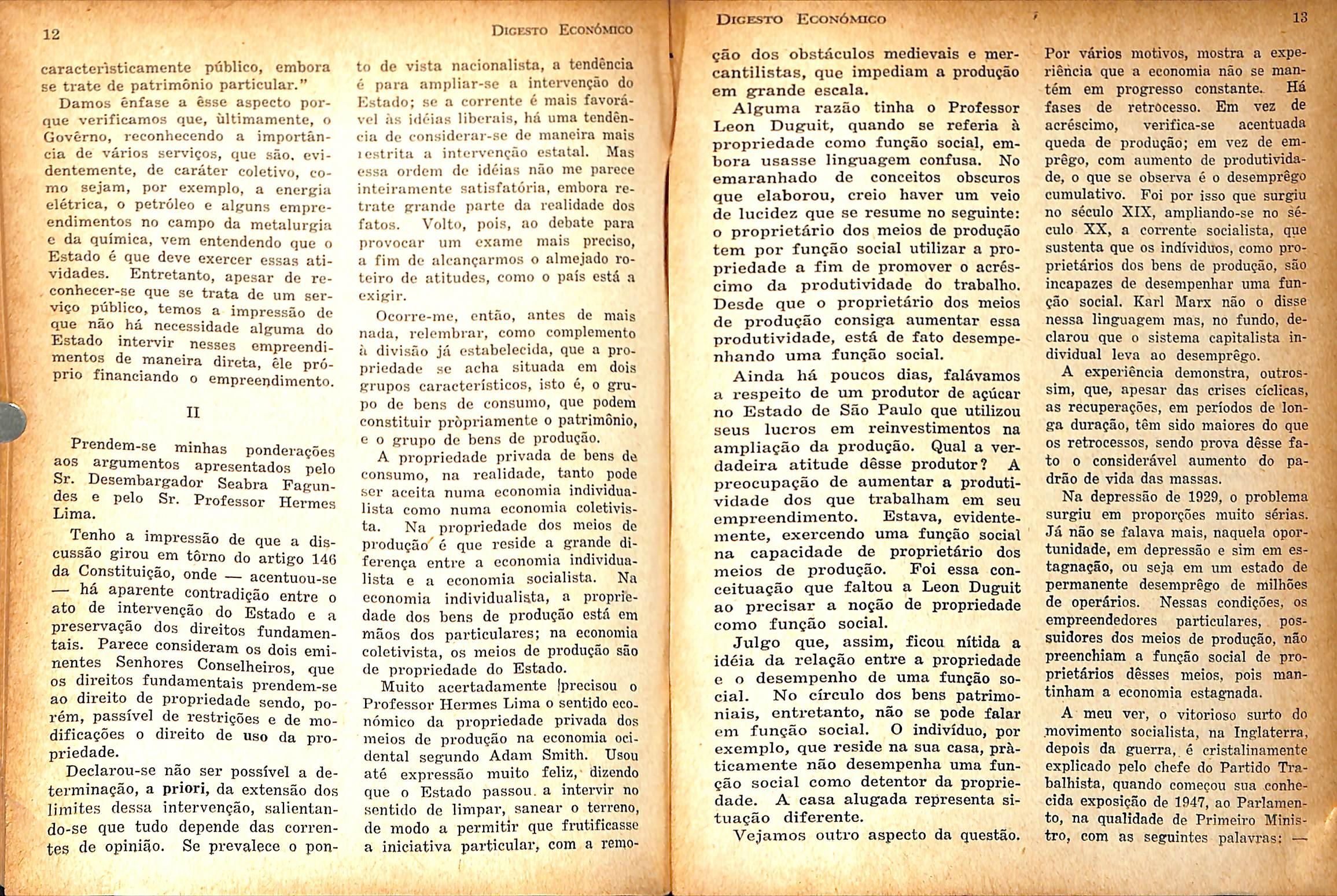
empreque o
Estado é que deve exercer essas ati vidades. Entretanto, apesar de re conhecer-se que se trata de um viço público, temos sera impressão dc que não há necessidade alguma do Estado intervir nesses empreendi mentos de maneira direta, êle pró prio financiando o empreendimento.
II
Prendem-se minhas ponderações aos argumentos apresentados pelo Sr. Desembargador Seabra Fagun des e pelo Sr, Professor Hermes Lima.
trate grande parte da realidade dos fatos. Volto, pois, ao debate para provocar um exame mais preciso, a fim de alcançarmos o almejado ro teiro de atitudes, como o pais está a exigir.
Ocorre-me, então, antes de mais nada, relembrar, como complemento ã divisão já estabelecida, que a pro priedade SC acha situada em dois grupos característicos, isto é, o gru po de bens de consumo, que podem constituir propriamente o patrimônio, e o grupo de bens de produção.
A propriedade privada de bens de consumo, na realidade, tanto pode scr aceita numa economia individua lista como numa economia coletivista. Na propriedade dos meios do produção é que reside a grande di ferença entre a economia individua lista e a economia socialista. Na economia individualista, a proprie dade dos bens de produção está em mãos dos particulares; na economia coletivista, os meios de produção são <le propriedade do Estado.
-se popro-
T^nho a impressão de que a dis cussão girou em tôrno do artigo 14tí da Constituição, onde — acentuou-se — ha aparente contradição entre ato de intervenção do Estado 0 e a preservação dos direitos fundamen tais. Parece consideram os dois emi nentes Senhores Conselheiros, que os direitos fundamentais prendem ao direito de propriedade sendo, rém, passível de restrições e de mo dificações 0 direito de uso da priedade.
Declarou-se não ser possível a de terminação, a priori, da extensão dos limites dessa intervenção, salicntaiido-se que tudo depende das corren tes de opinião, Se prevalece o pon-
Muito acertadamente [precisou o Professor Hermes Lima o sentido eco. nómico da propriedade privada dos meios dc produção na economia oci dental segundo Adam Smith. Usou até expressão muito feliz, dizendo que o Estado passou, a intei-vir no sentiilo de limpar, sanear o terreno, de modo a permitir que fnitificasse a iniciativa particular, com a remo
Dicksto Econômico 12
J
ção dos obstiículos medievais e mercantilistas, que impediam a produção em grande escala.
IAlguma razão tinha o Professor Lcon Duguit, quando se referia à propriedade como função social, em bora usasse linguagem confusa. No emaranhado de conceitos obscuros que elaborou, creio haver um veio de lucidez que se resume no seguinte: proprietário dos meios de produção tem por função social utilizar a pro priedade a fim de promover o acrés cimo da produtividade do trabalho. Desde que o proprietário dos meios de produção consiga aumentar essa produtividade, está de fato desempe nhando uma função social.
o na
Ainda há poucos dias, falávamos a respeito de um produtor de açúcar no Estado de São Paulo que utilizou seus lucros em reinvestimentos na ampliação da produção. Qual a ver dadeira atitude dêsse produtor? A preocupação de aumentar a produti vidade dos que trabalham em seu empreendimento. Estava, evidente mente, exercendo uma função social capacidade de proprietário dos meios de produção. Foi essa conceituação que faltou a Leon Duguit ao precisar a noção de propriedade como função social.
Julgo que, assim, ficou nítida a idéia da relação entre a propriedade e o desempenho de uma função so cial. No círculo dos bens patrimo niais, entretanto, não se pode falar cm função social. O indivíduo, por exemplo, que reside na sua casa, pràticamente não desempenha uma fun ção social como detentor da proprie dade. A casa alugada representa si tuação diferente.
Vejamos outro aspecto da questão.
Por vários motivos, mostra a expe riência que a economia não se man tém em progresso constante, fases de retrocesso. Em vez de acentuada
Há verifica-se acréscimo,
queda de produção; em vez de em prego, com aumento de produtivida de, o que se observa é o desemprego cumulativo. Foi por isso que surgiu no século XIX, ampliando-se no sé culo XX, a corrente socialista, que sustenta que os indivíduos, como pro prietários dos bens de produção, são incapazes de desempenhar uma fun ção social. Karl Mai*x não o disse nessa linguagem mas, no fundo, de clarou que o sistema capitalista in dividual leva ao desemprego.
A experiência demonstra, outrossim, que, apesar das crises cíclicas, as recuperações, em períodos de lon ga duração, têm sido maiores do que os retrocessos, sendo prova dêsse fa to 0 considerável aumento do pa drão de vida das massas.
Na depressão de 1929, o problema surgiu em proporções muito sérias. Já não se falava mais, naquela opor tunidade, em depressão e sim em es tagnação, ou seja em um estado de permanente desemprego de milhões de operários. Nessas condições, os empreendedores particulares, pos suidores dos meios de produção, não preenchiam a função social de pro prietários dêsses meios, pois man tinham a economia estagnada.
A meu ver, o vitorioso surto do .movimento socialista, na Inglaterra, depois da guerra, é cristalinamente explicado pelo chefe do Partido Ti’abalhista, quando começou sua conhe cida exposição de 1947, ao Parlamen to, na qualidade de Primeiro Minis tro, com as seguintes palavras:
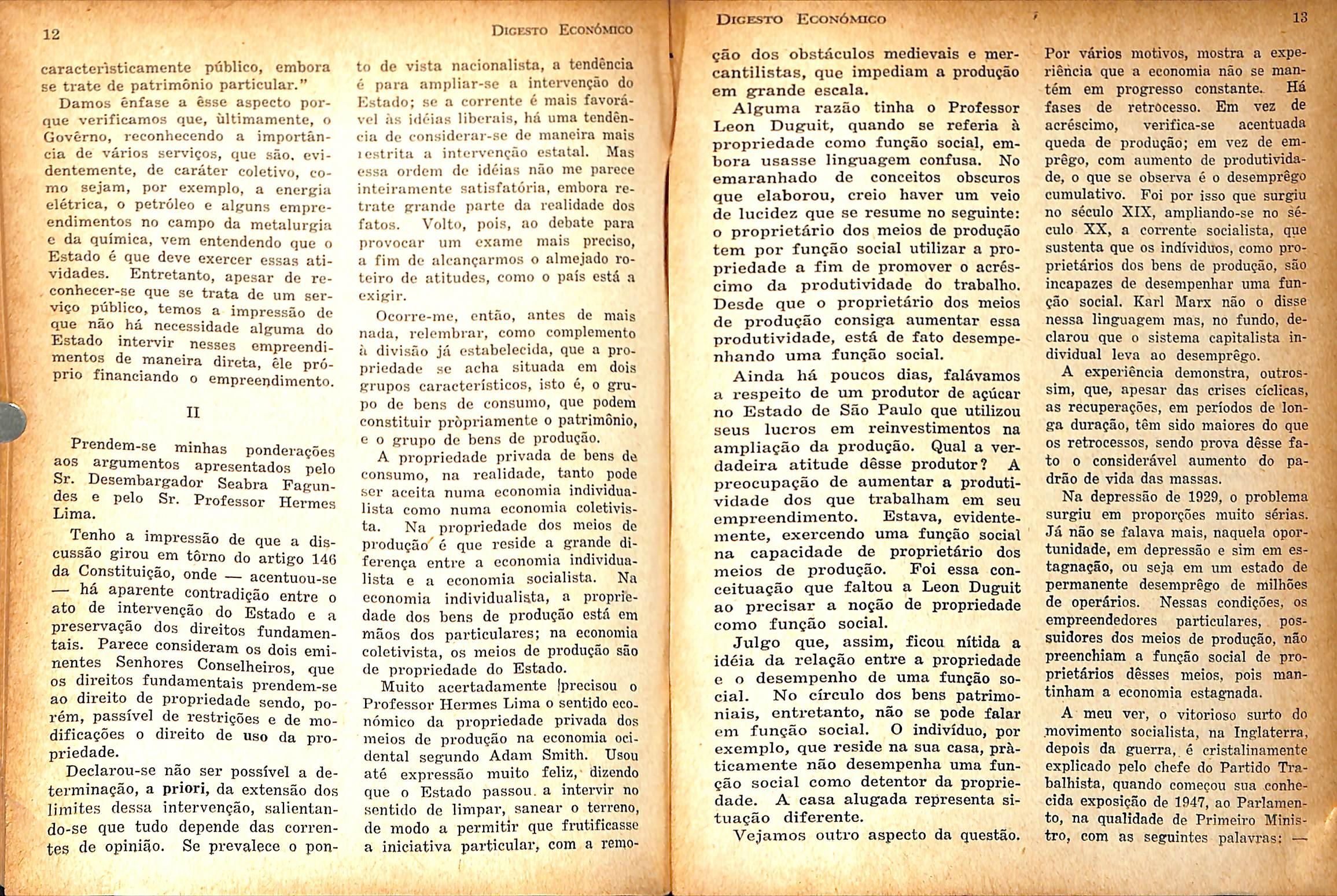
13 Dicesto EcoNó^^co
Em julho do 1945, o atual go verno voltou ao Poder depois do quase seis anos de guerra. Mesmo antes da guerra, grande parte das nossas indústrias básicas
não apenas num ano, mas om vários f anos.
re.sson-
tia-se da falta de equipamentos adequados à técnica moderna, ocorrendo, com persistência, alto nível de desemprego, principal mente nas regiões mais desenvol vidas.
O Pai não soube aprovei tar êsse excedente de trabalho ra modernizar pa0 seu parque indus¬ trial”,
acusação aos meios de produção, se, nesta altura,
preendedores particulares
terra, ’
Alega-se que os particulares não SC interes.sam pelos planos de maior envergadura, como são, em geral, o.s empreendimentos de serviços pú blicos. O Conselho Xacional de Eco nomia, em três de suas exposições, esclareceu êsse problema, demons trando a insubsisíência de tais alega ções. É até estranho que no atual ambiente, fortomente desfavorável íi iniciativa particular, no campo dos serviços públicos, ainda haja quem pretenda ampliar c mesmo iniciar al guns desses serviços. As condições inflacionárias são contrárias a qual quer iniciativa desse gênero, e alêm disso, a legislação, o que é realmente deplorável, não oferece nenhum in centivo.
meios de produpara o Es-
os em. na Inglareagiram a ponto de afasta rem essa grave acusação. Mas de qualquer maneira, a estagnação eco nômica no decênio de 1930 a 19.39 nao podia deixar de imprimir um de«sivo movimento de transferência de propriedade dos ção, dos particulares tado.

ca¬
pouco
, trouxe provas que. importantes.
Comparando-se as estatísticas dos lucros auferidos pelas emprêsas o vulto dos investimentos por elas realizados, verificamos centagem de aplicação dos lucros investimentos é extraordinária. t. r. sVV.
Coloco-me om posição completnmente neutra perante essa política. Para mim, é indiferente que os meios de produção estejam em mãos do particular ou do Govêmo. Acho que Re justifica plenamente o movimento socialista se a economia está estag nada. Sc não há progresso nessa economia, é porque o particular não desempenha sua função social de preendedor, e, portanto, devemos ti rar de suas mãos a propriedade dos meios de produção e transferi-la pa ra 0 Estado. Se verificamos, como me parece scr o caso do Brasil, que 0 empreendedor desempenha bem o seu papel, não cabe a transferência de propriedade do particular para Estado.
emo
Mas, se reconhecermos que o parti cular deve dispor dos bens de produ ção, se partirmos da premissa da conveniência do um tipo de economia de propriedade individual dos meios ,
u Dicaro Ecokómi*
<(
....J
ri F
1.
Eis aí uma tremenda detentores dos Não sei í:
r..’ *■ j j. n'f ki *í I <
No Brasil, qual é a situação? lenho, com toda sinceridade, pro curado compreender a política daque les que julgam que o Brasil deve minhar para a socialização dos meios de produção. É bem possível que eu esteja equivocado. Mas. do que me e dado observar, verifico que os em preendedores particulares desempe nham seu papel. Há
para essa mesa algumas me parecem muito com que a pernos E
Idü produção, nuo podemos chegar à conclusão do que é livre o poder de restrição do uso da propriedade por parte do Estado. Deve haver um cri tério de limitações.

Temos, entretanto, primado pela ausência de um critério do limita-
ção, mormente uo Judiciário. Senão, E comum o Governo baixar vejamos, instruções, portarias, fixando o preço de produtos ou de tarifas, ou ainda, com base na lei, determinando o mᬠximo de aluguéis, sem ter o cuida do de verificar se o produtor está em condições de preservar suas ins talações ou seus equipamentos, ü congelamento dos aluguéis é tí pico. ü prédio alugado é um bem de produção como outro qualquer e transforma-se num meio de produ ção. Trata-se de uma instalação destinada à prestação de serviços a terceiros. I^or isso mesmo, o prédio deve estar em condições de oferecer o necessário conforto ao inquilino. Se, entretanto, o nível geral dos pre ços sobe; se os salários são aumenta dos, por motivo da elevação do cus to de vida; se os impostos, diretos e indiretos, têm suas taxas majoradas, òbviamente o congelamento dos aluguéis representa um confisco. 0 proprietário dêsse meio de produção fica impossibilitado de desempenhar sua função social. Não pode conser var o prédio para prestar serviços ao inquilino. Portanto, ainda que exista uma lei determinando que os aluguéis sejam congelados, se o proprietáz-io do imóvel pleitear, judicial mente, a anulação do congelamento, a justiça deveria deferir-lhe o pedido, de acordo com a própria Constitui ção, porque se entende que os meios de produção de propriedade privada
nüo podem ser confiscados indireta mente 4iuando no desempenho da função social de prestar serviços.
Outro exemplo é o que. diz res peito às empresas de serviços pú blicos. Ü üovêrno fixa as tarüas.
Se os tarifas, devido à depreciação da moeda, não cobrem as despesas da empresa, penso que o concessio nário tem o direito de apelar para a justiça e reclamar contra essa ta rifa. 0 judiciário não fixa tarifas, o que é da competência exclusiva do Executivo. Mas pode e deve reco nhecer 0 direito a uma indenização. É no extremo da intervenção onde se inicia o confisco, direto ou indi reto, que reside a limitação do di reito do Estado de intervir na regu lamentação do uso da propriedade. O uso da propriedade pode ser na turalmente modificado ou restringi do, como muito bem se tem salienta do neste Conselho. Há, porém, de terminado limite, e êste limite é aquêle pelo qual se há de respeitar a capacidade do proprietário de de sempenhar sua função social, como dono da propriedade.
Encaremos agora ainda outro as pecto — o da economia de expansão, — não suficientemente focalizado.
Na economia a que nos estamos re ferindo, tão importante é assegu rar as facilidades de expansão, quanto é necessário combater os ex pedientes lucrativos da escassez. O Governo deve intervir para incen tivar a produtividade, como também deve intervir para combater os lu cros decorrentes da escassez. O combate ao abuso econômico não é tão somente um imperativo moral. Desejo frisar que se trata de medida indispensável à manutenção do pró-
F 15 Dicesto Econômico
prio sistema econômico capitalista. Tanto deve o Govêmo intervir no domínio econômico para facilitar o acréscimo de renda por meio ilo au mento da produtividade, como há de intervir para eliminar a possibi lidade dêsse acréscimo, quando ginado de uma redução de produção, K neste sentido e, vamente neste sentido, batidos os monopólio.s.
sidcrundo especialmentc o salário. £la auo o faz para destacar uma classe.
economico to.

o mo-
oritalvez, exclu.sique são com¬ um monopólio para o aperfeiçoamento técnico, jurídico «sse monopólio é perfeiNo entanto, se se forma um monopolio para tirar partido da escas sez, os lucros pecuniários deixam de ser lucros da produtividade nopólio deve ser eliminado nao so pelo aspecto moral, mas também porque fere o próprio sistema económi-
CO em que vivemos.
A prática monopolista de lucrati vidade pela tar-se de escassez pode manifesvárias maneiras, seja na venda ü- s produtos, seja na compra dos fatores de produção e, mais acentuadamente, no contrato dos ços do trabalho. servi-
A Constituição não alude ao traba lho para, simplesmente, ressaltar o trabalho, porque se assim o fizesse, uma das duas conclusões teríamos que tirar: ou admitiriamos que os constituintes tcriam partido do pres suposto de que os salariados são es poliados pelos proprietários dos meios de produção, e, neste caso, de veriamos ter marchado para uma economia socialista, devendo ser ou tra a Constituição; ou então, seria seu propósito criar uma classe pri vilegiada, o que estaria em contradi ção com todo o resto da nossa Lei Básica.
A Constituição procura amparar o trabalhador dentro de determinada situação de abuso de poder econômi co. Além disso, há a questão da es tabilidade do salariado. Não é es tabilidade na empresa, porque, na depressão, nenhuma eniprêsa pode gai*antir a estabilidade. A estabili dade é de emprego na sociedade, em seu conjunto, e não na empresa.
É da essência da própria econo mia que não haja pessoas desempre gadas. Se por motivos cíclicos ou de ordem técnica a pessoa fica desem pregada, cabe à coletividade ampará-la.
É exatamentesibilidade, aliada semprêgo generalizado, por fôrça das crises cíclicas, que a Constitui ção dá um destaque ao trabalho, t k.
Dícksto Kcon6mico IG
ou
e
Se «e forma í
por causa dessa posaos riscos do decon-
INTERVENÇÃO DO ESTAD#
 nKHMKs Lima
nKHMKs Lima
^^uN i iNUANix) as observagões que vinha fazendo no mesmo espírito em que as formulei, não estarei re almente, nem julgando, nem opinan do, mas simplesmente, observando e verificando.
Segunílo as idéias que expus, seja qual fôr a ordem econômica vÍgorante, o Estado é a cada passo soli citado a praticar atos e a adotar medidas havidas como necessárias à vida do sistema social aos interes ses nele preponderantes, de modo que não há tipo de Estado indife rente à ordem econômica, não há ti po de Estado que não seja a seu mo do intervencionista, que não prati que atos julgados necessários pela ordem econômica dominante à sua
defesa nacional, ã preservação do seus princípios, à estabilidade do seu funcionamento. Por exemplo, lo go no início do governo federal dos Estados Unidos, não se poderia falar em Estado intervencionista. Ao con trário: o Estado deveria permanecer alheio às relações de mercado, aos problemas do trabalho, aos proble mas econômicos. Entretanto, como mostra um historiador americano, Charles Beard, nas “Origens econô micas da democracia jeffersoniana”
« e em o mica, cionistas, presas de pesca da Nova Inglaterra, criando um banco oficial para aten der a injunções econômicas que en tão prevaleciam e estabelecendo dis-
Ilcrmcs Lima, profcswr dc Direito, «mtigo c brilhante deputado federal, bit>-, grafo dc Tobias Barreto, autor dc “/?itrodução « CíVndH do Direito”, obra di- , dática cjuc alcançou várias edições, fâz _J duas magníficas exposições, no Conse lho Técnico da Confederação Nacional do Comercio, sobre "Intervenção do | Estado”. O "Digesto Econômico” in sere cm suas páginas, revista, a segunda . explanação.
criminações favoráveis à marinha mercante americana; o Estado, mes-
mo naquela época, nasceu intervindo. Se observarmos a história da formação dos Estados nacionais europeus, com o desmoronamento da Ida-
da Média, verificamos que, no pro cesso de consolidação desses Esta-
dos, êles passaram a constituir não só unidades políticas, como unidades ● ! básicas de todo um processo de de senvolvimento econômico; e esse pro- , cesso baseava-se no pensamento de que a prosperidade de um país de pendia da posse de mercados exclu sivos, fôsse para importar matérias-
primas, fôsse para exportar produ tos acabados, ou manufaturados. Era C sistema colonial, que foi tão bem j analisado e combatido por Adam ; Smith.
O triunfo final do sistema capita lista de produção importou tambémem levar o Estado a desfazer os obstáculos legais ã expansão da li vre empresa, dO' livre empreendí-
% , : 7S
■f :
.V
_^
_i
.*
●]
i o 1
A República”, a União, desde início, intei-feriu na ordem econóeslabelecendo tarifas proteconcedendo prêmio a emi . _<
mento. O Estado» no sistema capita- desejo de ganho <^^âk4£|AK 1^ lista de produção, limpou o terreno dos indivíduos emI onde haveríam de assentar os prin- preendedores e caf cipios do funcionamento da nova or- pazes. Era essa a filoso- 3^ jj, dem. A liberdade econômica, a li- fia econômica compatível %Sf ● berdade política, a liberdade indivi- com o liberalismo político e 8^ » dual, a igualdade perante a lei, a econômico. Mas, - mesmo autonomia da vontade como fonte dos dentro dessa filosofia e , contratos, tudo isso são princípios dêsse liberalismo, o Estado intervi; intimamente ligados à ordem capi- nlia, embora somente no sentido de ^lista que então se consolidava. Ü ajudar a ordem privada a funcionar, ^stado foi o instrumento através do Se passarmos ao Brasil, verifica is, qua essa ordem preparou o terreno remos que a Constituição Kepublica: se pudesse desenvolver na de 1801 corresponde às exigências ^ f raves que a ordem anti- do pensamento econômico a que me ^ üesen no curso do refiro. A Constituição de 1891 escanit^l? mesmo do sistema truturou o Estado para representar veio na^ ’ 1 sempre inter- o papel que as íôrças produtoras nara^ ajudar a iniciativa privada, lhe atribuíam segundo a orientação ● condições de bom do pensamento liberul-econômico.
slocanrin^?^.^^ dessa, iniciativa, co- Com a Ucpública e dentro dos mollV temas rio tarifas, sis- des constitucionais novos, a ambição ^ ' vicos Dúblionc * concessões de ser- do lucro, a ânsia do empreendimen) de renda T* juros e to numa economia que estava supef cava ^'ondo seu atraso, dando maior no domínio ° Estado relevo aos valores novos pela f no aominio economico* ano - j f- ●
● nas pra nma ínf - diferenciação de suas ativi■ dizente com o sistema'de M defesa do mercado mter- dução em vigor. n».nriiio5n u- rcgíme ÚQ no através de tarifas protecionistas, do aue noliciar^n^f Estado pelo intuito de atrair capitais para y. . ^ funcionamento do o Brasil, tudo isso enquadrava-se ' ■ liberdade de numa Constituição perfeitamente adeí: o ohiicnc omerciar, impedindo quada ao pensamento econômico e o„o T70ÍO ^ usurpações; é político que orientava a estrutura «/ . ^ ... * exemplo, a legis- social naquele período; de modo que laçao antitruste, nos Estados Uni- nada mais injusto do que dizer que a dos, que começou la pela segunda Constituição de 1891 foi uma Consmea e o secu o iiassado e de que tituição puramente idealista, pura^ art. 148 de nossa Constituição não mente de gabinete, que não tinha r// , representa senão um eco retardado. nada a ver com a realidade brasio i Então, dominava a filosofia políti- leira. É uma tese cara a Oliveira co-econónüca dêsse período a cren- Viana e, antes dêle, a Alberto Tôr■Z\ ça de que o melhor motor da vida res; mas, sobretudo, a Oliveira Viaeconômica é o interesse- privado, o na, que insiste muito nela, achando

iMip.i .. . /” f-' Dicesto Econó^uüÔ? 18 È-
) S téii l i/*. oi.. J
que a Constituição de 1891 foi ape nas uma espécie de prova do talen to literário dos fundadores da RepúOra, de modo nenhum. A blica.
Constituição atendeu us exigências da ordem dominante. O Estado não devia intervir no domínio econômico quando fôsse cliamado pela or- senao dem privada para ajudá-la e nos limi tes em que essa ajuda fôsse conside rada oportuna e boa pelo sistema pri vado de produção.
Expressamente sobre a ordem ecoConstituição de 1891 há na nomica
apenas dois dispositivos, se não me cní?ano; o do parágrafo 10.° do art. 72, que diz:

Em tempo de paz, qualquer in divíduo pode entrar no território nacional ou dêle sair com sua for tuna o bens, quando e como lhe convier, Independente de passa-
porte parágrafo 17 do mesmo artigo, e o que diz:
O direito do propriedade mantém-so em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por neces sidade ou utilidade pública me diante indenização prévia”.
E logo acrescentava:
As minas pertencem ao pro prietário do solo, salvo as limi tações que forem estabelecidas pela lei a bem da exploração áêssc ramo da indústria”.
Mas, durante a vigência relativnmente longa da Constituição de 1891, intervenção do Estado no domínio econômico do Brasil verificou-se muitas vezes. É uma intervenção que se concretizou através de vários c importantes atos. Por exemplo: bouve toda a batalha polo protecio nismo alfandegário, de que nos dá
notícia Humberto Bastos, em seu li vro sobre o desenvolvimento indus trial do Brasil. Houve numerosos decretos concedendo vantagens es peciais í\ instalação de indústrias, in clusive à indústria siderúrgica. Era uma maneira do Estado intervir con dicionada ao sistema econômico do minante e aos valores políticos que prevaleciam.
No período de 1890 a 1900, os cafèzais paulistas dobraram e apare ceu 0 espectro da superprodução. Então, em 1902, votou-se uma lei om São Paulo criando imposto so bre novas plantações. Já aí as ne cessidades de produção levavam o intervencionismo do Estado a um passo adiante, como o próprio café levou o Estado ãs valorizações de 1914 e 1918, até que, cora a valori zação de 1924, surgiu o Instituto do Café. Isso era já intervenção direta no domínio econômico. Assim, no apogeu do liberalismo, o Estado intervinha. Mas esse intervencionis mo era ditado pelo pensamento de ajudar o sistema de produção predo minante, garantindo sua viabilidade.
O Estado só indiretamente se preo cupava com os benefícios da ordem material e social resultantes da ati vidade econômica; porque melhores salários, mais habitações, maiores oportunidades de emprego, mais van tajosas condições de vida deveríam resultar do conjunto de atiridades econômicas exercidas pela iniciati va privada. O veículo do progi^esso social estava nas atividades econômi cas da iniciativa privada. O Es tado não fazia diretamente as coisas, ele ajudava a criar condições para que houvesse melhores empregos, para que houvesse melhores salá-
Díoesto Econômico 19
)
U
tt
(t a
rios, para que houvesse melhores condições sociais.
o capital de maneira contundente c *| chcífou a transformar a Rússja no 1 qut* o Prof. Joaquim Pimenta cha mou “uma espécie de laboratório de experiências sociais”. Mas a revolu ção russa, que parecia, a principio, uma revolução localizada, uma guer ra civil dentro da Rússia, que se po dería resolver com o triunfo das forças tradicionais, essa revolução acobou assumindo as proporções que todos nós .sabemos, e constituindo-se, à semelhança da Revolução France sa, num dos pontos capitais de re ferência <la transformação política do mundo. A êste respeito, encontix*i curiosa nota, de maio de 1919, numa revista americana,“Nation”, na fjual se dizia o seguinte:
passamos a em que a - que depassou a exigir . ® ^ais profunda do Estado, pois que aquilo que se entrou a questionar foram as bases mesmas da constituição da sociedade, tiça na distribuição a jus, _ . e no gôzo dos benefícios que essa sociedade com portava. Surgiu uma ambiência in teiramente nova e, dentro dessa biência de ordem ammoral e de ordem
f novo, verdadeiramente avassalador pela aceitação que encontrou na cons ciência moral da época, o sentimento de justiça social. Êsse sentimento perturbou e agitou tÔda a ambiên cia política e social. E ■ viver uma época diferente, ; legulação dos problemas de pendia a paz social a ação direta t
social, o trabalho de Versalhes apa
receu, com numerosas reivindicações do trabalho. Essa nova ambiência política parece-me que tem dois tos capitais de fixação ou de referêna revolução russa e a crise
poncia; americana de 1929.
A revolução ru.ssa colocou o problema das relações do trabalho com
“Ambas as opiniões, a pública e a privada, na Europa, começam a to mar a sério Lenin. Apesar do ódio que sua orientação desperta, cada dia .se reconhece melhor que um ho mem de força intelectual, de marcan te personalidade c de vontade de fer ro tenta lançar uma idéia nova no mundo”.
A depressão americana foi outro fato de maior importância inicial mente por ter ocorrido nos Estados Unidos, que é a praça-forte da livre empresa, onde ela, ainda hoje, fun ciona mais normalmente. Mas a de pressão americana determinou que o Estado, nos Estados Unidos, as sumisse funções que, sendo já prati cadas em outros países e sendo qua se tradicionais em alguns dêles, re presentavam contudo,^ nos Estados Unidos, verdadeira revolução. In troduziu-se por lei o seguro social, inclusive pensões para velhos. O Go verno Federal interessou-se pela construção de moradias, correu em

Dicesto Econômico PH
20
Mas, com a primeira grande guer ra, essa concepção, que chamaria “supletiva” do Intervencioni.smo, so freu golpe muito rude porque a pri meira grande guerra marca o fim da tranqüilidade de um sistema de produção dominante; fim dêsse sistema, mas marca o fim da tranqüilidade dêsse sistema, ca a transformação da ambiência ciai dentro da qual êsse sistema vi nha funcionando; porque depois da primeira grande guerra é que surge, em tôda sua fórça e de novo, o gran de problema das relações do traba lho com
nao marca o marsoo capital; e um sentimento í
ajuda dos desempregados sob diver sas investimentos.
Act”, novo impulso, o Estado interessou-se pelo fornecimento de utilidades básiprotrroaso da comunidade, sem
formas e controlou o processo de Através do “Wagsindicatos receberam o.s ner cas ao intuito <lc lucro, como energia, água irrigação, etc... Essas coisas, Estados Unidos, feriram de macliocante a cori*cnte tradicio-
para nos neira nalista da livre empresa.
Mas, com esses dois acontecimen tos, é evidente que a ordem tradicio nal da produção baseada na livre emfuncionar numa pi^êsa começou a ambiência em que eram postos em dúvida os seus próprios fundamen tos isto é, sua capacidade de fornebem-estar maior, mais profun- cer do e mais geral. Então, começoiiexaminar a própria estnitura Verificou-se que se a social do Estado, essa estrutura ensinava que não bas tava acumular bens para que seus fossem partilhados por benefícios todos; que a acumulação de bens não suficiente para fazer que todos era participassem dos benefícios desses bens; que era necessário ter muitos bens e ter um processo de distribui ção mais adequado.
Em 1929, havia, nos E. Unidos, vinte e sete milhões e quinhentas mil famílias com uma renda global de setenta e sete biliões de dólares; dessa renda seiscentas mil famílias recebiam vinte e um biliões e meio de dólares; ao passo que seis milhões de famílias recebiam apenas três bi liões e quinhentos milhões de dólares. Estava de pé uma desigualdade que viciava o sistema e contra a qual se abriram as comportas dum sen timento de justiça social, abalado por
esses acontecimentos dramáticos de que 0 mundo estava sendo palco. A imapem de um sistema de produção entregue à iniciativa privada e ex clusivamente movido pelo desejo do lucro, não mais passou a ser aceita; pelo menos, sem as mais vivas resis tências, pela consciência moral de poderosos setores da sociedade. Es ta é que foi a transformação que se processou.
Aqui vem a propósito uma obser vação do livro de Lord Keynes, nos “Ensaios de persuasão”. Keynes aí dizia: “0 papel do dinheiro e a fun ção do dinheiro na ação do indivíduo, como alavanca do mecanismo eco nômico, formam a essência do capi talismo; é 0 dinheiro que está na ba se do esforço de cada indivíduo para conquistar sua própria segurança económicaf é o dinheiro que atrai a consideração da sociedade porque constitui uma das provas irreborquíveis do sucesso”. Mas êle nota: “0 capitalismo moderno está desti tuído de um sentimento religioso de missão; e está, portanto, sem coe são interna; freqüentemente, embora nem sempre, mas geralmente, apare ce como mero conglomerado de pos suidores e compradores, com o fim do lucro, com o fim de acumxúar bens’i. Então, pergunta êle (como que vaticinando): “Uma revolução de nossas idéias e de nossos senti mentos sobre o papel do dinheiro não se poderia tornar o núcleo de um ideal futuro?”

De qualquer maneira, a civilização entrou em crise ê um dos aspectos positivos dessa crise é que o pro blema do trabalho passou problema fundamental de todo sarnento político, ainda que de
a ser o 0 penre-
21 DIG ESTO ECONÓ^aCO
●I
^mcs os mais diferentes. Se temarmos o nazismo, o fascismo, o co> munismo, pelo menos teòricamente, na base idcoló^ca dêsses regimes, o trabalho se encontra do aquele valor a que se deve dar primazia. O trabalho passou a cons tituir um ponto de interseção de tôjas as doutrinas.
como sena
. Não um atraso da Constituição; é que ela era um produto de determi nada ambiência política dia ao

era e corresponpensamento político dominan te, ao funcionamento normal de uma produção. O proble ma da ordem econômica não entrava, então, na cogitação estatal; b ema da ordem econômica era 0 pro-
« Proof ● 1 ? r ® realizado pola atividade da empresa privada, de comunidade recebería
^ O Estado velaria para que a empresa privada tivesse a capacida de de funcionar de modo a poder prestar esses benefícios. Portanto intervenção do Estado, hoje ser colocada numa ambiência muito diferente para poder ser' estudada c mesmo compreendida. Não é pos sível conceber hoje o papel do Estado em face da ordem econômica como êsse papel era concebido ou realizado em 1891. Kl 'L', '(● 3.;
A intervenção do Estado hoje é uma intei^venção ou de orientação ;50cialista, ou de orientação dirigista. Quanto à intervenção socialista no domínio econômico, todos sabe mos em que ela consiste e nao vou
agora referir-me a este aseuntio, 1 Agora, a intervenção dirigista é a in tervenção que não exclui o sistema capitalista; ou que pode não excluir o sistema capitalisUi, mas inclina-se a introduzir nêlc um volume maior do justiça social. É exatamente o ponto dc vista da nossa atual Cons tituição, que deseja ver a ordem eco nômica organizada conforme os prin cípios da justiça social. Daí, por exemplo, decorre a nova concepção de imposto, pela qual o imposto não é apenas para as despesas normais, senão um instrumento de redistribuição de riquezas, da justiça social através de tudo quanto com esse di nheiro se possa fazer em benefício da comunidade. O alcance do dirigismo tom de ser determinado pela Constituição do cada país e pela contribuição constitucional que o Le gislativo, o Judiciário e o Executi vo trouxerem na base do texto exis tente. Não podemos prever até onde irá o dirigismo; não podemos fixarlhe limites; não podemos encerrálo dentro de uma fórmula; êle vive através de uma ambiência social que está em ebulição, a ambiência so cial de um mundo em transformação. Reza ainda a Constituição que “a li berdade de iniciativa deve ser con ciliada com a valorização do traba lho humano”. Aí temos o valor trabalho erigido à categoria fundamental, na própria Constituição. Agora já não ô só a ordem econô mica baseada na iniciativa privada que é o ponto central da organização econômica, mas é também o traba lho; e 0 parnirrafo único do art. 145 diz:
II A todos ó }gurado o trabaIho que possibilite existência dig- j
22 Dicesto Económii 7
I' I_^ y r
;■
Vemos, entretanto, 0 seguinte: nossa Constituição de 1891 não fala uma só vez no trabalho; não há, na Constituição dc 1891, a palavra «tra balho”. Nem podería haver Jí
que os benefí¬ cios. a tem de
V-
Mantendo a Constituição a liber dade tle iniciativa, parece-me que ela quis com isto dizer que não proíbe a propriedade individual dos bens de qualquer natureza. Dêste modo, não seriu constitucional numa lei proibisse a pessoas físicas ou jurí<Mcus a proi)riedade de bens de protluçuo. Eni face da Constituição, co mo ela garante a liberdade de ini ciativa, não poderá haver lei que nacionalize totalniente todos os bens de i)rodução.
I*orque o (jue a Constituição quer é corrigir o sistema dominante, in troduzindo nêle maior volume de jus tiça sociíil.

O trabalho c obrigação so- nâo está produzindo os benefícios sociais que deve produzir, inieressando-se então o Estado para quo eia produza tais benefícios. Para isto, a Constituição arma-o de pode res que o habilitam a liderar também a ordem econômica. Os meus ilus tres companheiros permitirão ter minar esta exposição, observando que a inquietação social, hoje, no mundo, é tão profunda que até as tribos do Continente Africano estão por ola dominadas; e isso vi em duas assem bléias das Nações Unidas. Recla mando e reivindicando, representintes de tribos africanas eram porta dores da mesma inquietação social que sentimos; expressa sem dúvida ati*avés de problemas que lhes di zem respeito de maneira direta, mas é a mesma inquietação; é a mesma procura de justiça, é o mesmo anseio por uma distribuição melhor de ri quezas; é 0 mesmo anseio por que as disponibilidades técnicas e sociais da Humanidade sejam colocadas de maneira mais dii’eta à disposição e ern benefício da massa.
que ca. ser
Terminando esta minha exposição, concluo o seguinte: o Estado nunca foi indiferente à ordem econômica dominante porque está intimamente ligado a ela; o Estado sempre foi intex-vencionista na ordem econômiNem pode deixar de ser intervencionista poi*que detendo o Esta do o monopólio do uso legal da for ça, e havendo em todo o processo da produção problemas a serem resol vidos, ele, naturalmente, tem de chamado, em certas e determinadas circunstâncias, a encaminhar esses problemas. E encaminha-os dentro do espírito político dominante. Quan to à intervenção do Estado na Cons tituição Bi’asileira, ela é uma inter venção, a meu ver, de oi*dem dirigista; não de oi'dem socialista; é uma intervenção que paga tributo ao sentimento de que a ordem econômica,
Tem certa feição, ou certa ên fase do século XX, porque a socie dade se acha, hoje, aparelhada com insti'umentos de produção e de in formação com os quais os tempos an tigos nem sequer sonhavam.
Uma revolução social que surja, hoje, num país, não é uma revolu ção, realmente, que possa ser limita da a êsse país; ela se distende, se espalha porque o mundo, de fato, é cada vez mais um mundo sô.
r Dir.Fisi-o EcüNÓ^uco 23
nu. ciul”.
11
OAssuNH) é muito árduo
por sua complexidade e por sua extenPretendo apenas fazer aqui um apanhado geral, dar uma idéia da situação atual da indústria quí mica no lirasil
sao. c* dos rumos bási cos para o seu desenvolvimento, lembrarei Primeiramente, que a indústria química evoluiu do modo apreciável depois da revolução industrial da máquina a vapor. Até a revolução indu.strial, na antigüidade, já havia realmente uma indú.stria química, mas uma in dustria
relativamente empírica
.Sí/i u> í'rôi s Ahn u r tumUrm mvmhro ilu'>lrc ilo ('.onsclhi) Técnico CoiwiUivo ilu Confcíh ração S'arional do Comércio. Ccólttfio, c (juiniico, os Irahallios rcvrsirm-.sr .sempre de clare za, .si'<^iiratiçii e ohjelii idade.
Todavia, essa idéia foi avunçumlo, e hoje jú SC cogita de modificar a es trutura intima dos elementos, e de fazer as transmutações consideradas mais descabidas há cinqüenta anos.
, baseada nhecimentos dos alquimi.stas.
Estes já tinham uma idéia e intuição sôbre téria.
no.s a constituição da Basta lembrar
co¬ uma ma„ , <iue o proble¬ ma fundamental, naquela época, o da tran.smutação dos elementos, agora, no meado do século vinte, foi que chegamos a obter isso. Até cinqüenta anos passados, a cisão do áto mo era considerada uma utopia. En tretanto, a transmutação da matéria era o rumo essencial da alquimia. Apenas, os alquimistas transformar os outros metais atualmente,
era Só procuravam - em ouprocuramos nós transformar o urânio em plutônio e cousas semelhantes.
ro; É questão so¬ mente de alvo diferente. Nos tem pos relativamente recentes, essa idéia da impossibilidade da transmutação dos metais, foi posta de lado. Mas apenas se considerava, depois de Bécquerel, que se podiam transformar os elementos de peso atômico maior, em outros de peso atômico menor.
Apesar duma grande evolução dos conhecimentos fundamentais da quí mica, a indústria era realmente baseano mais estranho empirismo até à máquina a vapor. Os antigos já fabricavam vidro, como nós hoje o fabricamos; os venezianos faziam aquelas célebres pérolas; os egíp cios faziam muitas ligas com suas fórmulas secretas e os antigos te celões já utilizavam processos indus triais, para alvejamento dos tecidos, nos primórdios da indústria têxtil.
Até o fim do século XVIII, a indús tria têxtil não tinha grande desen volvimento, o tecido era feito à mão. Com a máquina a vapor deu-se a sua grande expansão. Paralela mente, foi necessário o desenvolvi mento da indústria química porque quando se fabricavam tecidos em maior escala, aparecia o problema do branqueamento, do tratamento pos terior para um melhor acabamento, principalmente do linho da Europa, que tinha a côr muito escura, en quanto o consumidor desejava cores

JT'’
0 3 O j
'^^Considerações sôbre as Indústrias Químicas de base no Brasil SiiAu» |●■nó^s A»mi-,u
//
da
mais claras, por exposição do.
Branqueava-se o linho ao sol G ao leite azc-
compostos orgânicos usados moderO leite azêdo fazia o papel dos
namente.
metalurgia também abrira’ dra à grandes rumos à indústria química,-^ paralelamente à produção do coque. Com a produção em larga escala da hulha para a fabricação de gás e de coque, desenvolveu-se a produção cm massa de todos os subprodutos ^
Foi no começo do XIX, qium- séciilo do a indústria têx til tomou aquêlc grande desenvolvi mento, bém os pesquisaque tanidores os meios de obter escala
que deram origem . à grande indústria \ de anilinas. Surgiu então a indús- * tria de produtos químicos e de e.v- ^ plosivos, — basea da no benzol, to- ● luol, antraceno, j abrindo largos ru- \ mos à indústria^ mundial; isso em n conseqüência da fl produção de coque do carvão mineral.
varios que dão oxigênio ':'_i

procuraram em maior
paralcla- porém, mente à descoberta da soda pelo proLcblanc, no cesso princípio do século XIX, a indústana química ia grande impulso, soda natural vindo do Oriente,
tendo
Até então, usavase a das eflorescências salinas da Pérsia, do Egito c da índia.
I produtos químicos necessários. Antes relacionada diretamente com a revolução industrial. Em tempos mais j3 recentes, o petró- fl leo entrou em con-4 coiTência com o benzol e os outros ^ derivados da hulha e a tendência mo-'^ derna ê fabricar a maioria dos pro- r^ dutos químicos partindo do peti'óleo. ^ De fato, grande número de produtosN da indústria orgânica tem sua es- ^ sência no carbono e no hidrogênio.
Era a indústria extrativa que fora soda. Começou-se a fabriassim foi-se desenvolvendo necia eá-la e indústria gradativamente no sépassado até o começo dêste sóa cul«i ● ulo, quando ela tomou novo e con siderável impulso com a síntese quíO petróleo só recentemente começou a entrar em ação como ma téria-prima na indústria química. Antco, a aplicação do carvão de pe- L
Hoje, as fontes mais baratas e mais ^ acessíveis para obtenção desses- ele- a mentos são justamente o gás natu-J ral e o petróleo; principalmente, oj gás natural que, às vezes, não tem outra utilização nas zonas petrolí- ’ feras. Ainda hoje, nos Estados Uni- * dos, lançam-se na atmosfera diária- ^ mente milhoco de metros cúbico:: dc
y
é i5 I3k;kí>to iicoNÚMico b t \
l I
A exposição ao sol provocava o brantiueamento que hoje se faz pe los hiiiocloritos e composto.s cloro c nascente.
mica.
gás natural porque não há onde mazená-lo.
ar-
Quem passa no Texas ve labaredas bruxuleando no ar, noite e dia, quei mando milhões de metros cúbicos de gás, porque não há ainda possibili dade para o seu aproveitamento, bora seja uma matéria-prima pràti- ' camente gratuita.
pria, sendo o fato principal a desco- * berta da máquina a vapor, enquan- \ to a revolução química resultou de uma melhor compreensão da estru tura da matéria.
emr
Nos Estados Unido.s, hoje, dstá fabricando mais álcool etílico de gás natural, do que nós fazemos, Brasil, de cana-de-açúcar.
A8,mn, também, fabrica-ae uma aéi '"«to mais baratos: benzol

e a guerHá uma bém tria rumou e petróleo. Isso para a matéria-prim
a ficar um tanas olhamos para to mat^-in de outras matena-primas e não tíonos r - de ingressar
Lavoisier, Proiist e outros gran des químicos do século dezoito, já tinham uma percepção adiantada so bre a estrutura da matéria c imagi naram as possibilidades da mudança de posição dos átomos e a possibili dade de reproduzir uma quantidade de substâncias por via sintética. Foi feito teoricamente o planejamento da fabricação de uma série de pro dutos, que depois foram sendo grada tivamente conseguidos.
Hoje, realmente, há alguns produ tos que ainda não foram obtidos por via de síntese, mas não resta dúvida de que o serão, mais cedo ou tarde.
vemos que ainda as mesmas possibilidades nesse rumo tão futu
i roso que e a indústria peh'oquímica.
Quando se sabe que nos Estados tinidos fabrica-se mais álcool de pe tróleo do que nós produzimos de na-de-açúcar, ninguém poderá duvi dar de que amanhã se faça também açúcar, de petróleo e gás natural.
A borracha sintética já pode fabricada em melhores condições eco nômicas do que a borracha da Ama^vônia.
te, no que era coT ^ apenas na urina, surgindo então a convicção de que se podiam ; sintetizar produtos orgânicos. Hoje, a maioria dos produtos sintéticos é de constituição orgânica. A revolu-
‘ ção industrial resultou de mais am(r pia e eficiente utilização da ener-
mais cnser que as coneconómicas do mundo ainda que 1
Antigamente, dominava to de 0 concei_ que nenhum produto orgâiiico podería ser fabricado sintòticamen, formação inter. vinha a força vital, e o homem não teiia capacidade de criar a vida Só começo do século passado, Woehler fez a síntese da uréia, nhecida .i^ki
Em Brownville, Texas, há uma fáfábrica de borracha sintética, r ■ produziu, no fim da guerra, 30 mil toneladas por ano, isto é, mais do que a Amazônia. Entretanto, díções
26 Dicksto Ecokómico f
não permitem que a borracha sin tética tome 0 desenvolvimento era de esperar, porque em certos países, como é o nosso caso, há in teresse na produção de borracha na tural para manutenção da ativida-
-se no , também fenol durant ra, partindo do petróleo, serie de álcoois usados na indústria vernizes tintas e solventes^ partindo do petróleo. A indúsHon* ^odemamente decididament r l \ V» X.
^
dc de extensas regiões, üe outro la do, talvez nunca tenhamos a mesma disponibilidade de gús natural que os ICstados Unidos, do modo que a ma téria-prima para fabrico de boiTacha sintética é dispendiosa (álcool de ca na). O nosso gús natural do Recôn cavo iiinda representa uma insigni ficância. Suas reservas correspon dem a tiuantidade de energia corres pondente íi um ano da produção carbonífera brasileira. Não podemos assinr ijonsar cm estabelecer uma gran de indústria química baseada no gás naturíil de Aratu, no Recôncavo baiano.
É interessante observar como hasccu a indústria química no Brasil.
No fim da monarquia, um cidadão requereu ao governo autorização pa ra instalar a primeira fábrica de ácido sulfúrico em nosso país. Mas isso só foi realizado no Rio de Ja neiro, no Í21ÍC10 da República. Até então impoi’tavam-se todos os pro dutos químicos, inclusive o ácido sulíúrico, o mais essencial de todos.
Em São Paulo, a indústria química nasceu não sei precisamente quando, mas um dos pioneiros foi Luís de Queiroz, que fundou uma indústria química c procurou desenvolvê-la com todo o entusiasmo. Êsse gran de pioneiro fabricava principalmente fertilizantes, inseticidas, formicidas c adubos.

Naquela época, todos esses produ tos eram importados e não se acre ditava na possibilidade de fabricálos aqui. A importação brasileira era mínima e a indústria foi-se de senvolvendo aos poucos, até que, na primeira guerra mundial, surgiu a dificuldade de importação. Apare ceram, então, em São Paulo, no Rio
de Janeiro, fábricas de produtos quí micos, procurando fazer, sem apare lhagem adequada, produtos qúe subs tituíssem os importados. Natural mente,’ essas indústrias não podiam resistir à concorrência estrangeira e logo depois da guerra foram desa parecendo aos poucos quase tôdas essas organizações, coni exceção de poucas e entre essas a que fora fun dada por Luís de Queiroz.
Os grandes grupos estrangeiros passaram a se estabelecer aqui.
Compreendendo as vantagens do mercado brasileiro, surgiram os re presentantes da Imperial Chemical Industries, da Dupont, de Nemours, da Usine du Rhône, etc. Os alemães também cedo se instalaram aqui, representando a I. G. Farben, a Merck. Chegaram a instalar fábrica em pequena escala em Cubatão, tra zendo as matérias básicas, desenvol vendo-se com aplicação dos produtos essenciais importados. Também eni Palmira, hoje Santos Dumont, fabri caram ácido acético, acetona, inicia tiva que não logrou os resultados desejados. Tão hábeis em indústria química, não compreenderam de pronto o ambiente brasileiro. A Merck do Brasil fechou suas portas com insucesso porque instalou uma usina para produção de acetona, áci do acético e álcool metílico, fazendo destilação da madeira, imaginando que tínhamos grandes disponibilida des de lenha, a preços ínfimos.
Quando começaram a trabalhar, vique não eram tão grandes es sas disponibilidades, a matéria-pri ma foi-se tornando tão cara que ti veram de paralisar suas atividades.
ram
Para dar uma idéia da importân cia atual da indústria química, de
Dicesto Kconómico 27
I f I I 1
üíntese basta olhar para a produção dc adubos nitrogcnados no mundo.
Até o século passado, lóda a matéria axotada de origem mineral vinha do
Chile e, em menor proporção, do Egi to e de alguns pai.ses do Oriente, o gro.sso da produção provinha d litre chileno.
mas o saCom o progresso da química, a produção chilena foi frendo soconcorrência dos produto a .s sintéticos e hoje ela representa ape nas 7,57 da produção dos compostos nitrogenados do mundo. O salitre .sintético hoje tem muito maior
tanto importar. Üepois, temos o Chi le, com 270 mil toneladas de azôto de origem natural. Vem depois a Fran ça, i-om 2M mil. quase todo fabri cado artificialmente como subpro duto da indústria do carvão. Depois, vem o Canadá, com 180 mil; a No ruega, com 1-10 mil;
Temos para 19.50 cana de
a um uma azôto por elemaior parte fa- porem a
uma importância que o salitre natural, produção amerimilhão de toneladas de composto mtrogenados, baseada parte em fixação do tricidade, bricada
í-‘om gás natural, petróleo e carvão.
No processo de do nítrico ral êste foi'
fabricação de ácic nitratos com gás natunece o hidrogênio; o azôto provem dessa mina farta tável ^ e inesgoque e o ar atmosférico. Os Estados Unidos estão produzindo um milhao de toneladas por ano de niti-atos sintéticos, com o consumo de 900 mil toneladas e excedente de 100 mil toneladas para exportar.
A produção total de nitratos sin téticos no mundo é de 3.700.000 lenda a azôto. Depois dos Estados Unidos, o maior produtor é a Alema nha, que produz 400 mil toneladas, na zona ocidental e 130 mil na oriental; total 530 mil. manha consome apenas 400 mil to neladas, ficando um excedente exportar. Em terceiro lugar, está Japão, com 340 mil toneladas de pro dução e consumo de mais de quatro centas mil toneladas, precisando por-
rena zoA Alepara 0
KíÜ mil, Bélgica, com tural pràticamonto só o Chile pro duz. Todos os outros países fabri cam do ar atmosférico ou o retiram, como siibpj'oduto, da destilação do carvão.
A tendência juoderna é para subs tituir os produtos naturais pelos sin téticos. A indústria do síntese cessita aijonas de carbono e dos ele mentos dos alquimistas, ar, fogo, toi-ra, esta figurando em quantidades mínimas como catalisador. O petró leo, que era até pouco tempo apenas uma fonte de energia, é hoje também uma importante matéria-prima para fabricação de produtos (luímicos. Nos Estados Unidos, atualmente, 257o da produção química vêm do petróleo, eniiuantü, há 20 anos, era príiticaniente nula.
a Itiíiia, com a Holanda, com 120 mil; a 120 mil. Salitre nanequein
O problema da fixação do azôto atmosférico no Brasil ó antigo. Te mos falado muito nisso, mas até o momento nada se fez, a despeito das leis em 1923 dando favores a instalasse usinas para fixação do azôto atmosférico. A Companhia Nitroquímica Brasileira tem o assunto em seu programa, mas até hoje não foi possível realizar nada a este res peito. A matéria-prima essencial o ar — não constitui problema e tu do gira em torno da disponibilidade da energia a baixo preço e do financiamento, que é muito elevado. Até

líCONÓMlCo I)»;nvio 28
V*
hoje não se resolveu esse problema, que está sendo relegado para futu ro x*cmoto, ([uando se trata de maté ria essencial ao Brasil para fertiliza ção do .solo o para i>roduçüo de explosivo.s. O jndniciro passo dado om matéria de fabricação dc compostos de azótü, no Brasil, foi uma peque na instalação da Kódia em São Paulo, proíluzindo amoníaco.
Na refinaria dc Cubatão, cogi ta-se de aproveitar gases residuais c produzir 100 toneladas diárias de ni trato dc amonio.
A questão de adubos (luímicos fer tilizantes tem importância consi derável c seu consumo tem cresci do espetacularmente. Em 1919, o Brasil importou apenas treze tone ladas de fertilizantes; em 1921, im portou duas mil; em 1923, oito mil; em 1948, cem mil. 'Clltimamente, com essa grande fome do fosfatos, es tamos na casa de 300 mil.
Vemos que de 1919 para cá pas samos de 13 a 300 mil toneladas. Is so indiscutivelmente revela o pro gresso da agricultura brasileira e o progresso da indústria do país, por que parte dos fertilizantes importa dos ó elaborada aqui. Revela, também, a necessidade de adubar as terras para se conseguir uma pro dução compensadora.

Entre as grandes organizações da indústria química está a Companhia
Química Rhodia Brasileira, represen tante de interesses franceses, que produz rayon em grande escala, áci do sulfúrico, acetona, ácido acético e muitos outros produtos químicos. Começou fabricando principalmente lança-perfume Rodo, mas compreen deu que havia aqui um enorme cam po para desenvolvimento. O grupo
Matarazzo também é gi'üude prodU' tor 110 campo da química, fabricando sêda artificial, ácidos e sais. A Com panhia Nitroquímica Brasileira tam bém começou produzindo sêda arti ficial e transformou-se pouco a pou co em grande organização de produdutos químicos, dos mais variados, iloje, produz ácidos, nitrocelulose, sulfeto de sódio, tintas, vernizes, sendo uma das organizações importantes da indústria química. A Produtos Químicos “Elekeiroz” S. A., evoluída da velha fábrica de Luís de Queiroz, continua na linha princi palmente de inseticidas e fertilizan tes.
Recentemente, instalou-se em Indústrias Químicas
São Paulo a Electrocloro S. A. (Elclor), filiada ao grupo da Dupont, que produz so da cáustica eletroliticamente. É uma instalação relativamente pequena. A^ primeira fábrica a produzir aqui aqui a soda cáustica eletrolítica foi a Eletro-Química Fluminense, que produz uma lixívia concentrada de soda. 0 custo da evaporação é gran de e se torna mais econômico fazer uma solução e vendê-la ao mercado consumidor nas proximidades do cen tro de produção. Não temos ainda uma grande indústria de soda que se compare à do ácido sulfúrico.
Em Piquete, por volta de 1920, instalou-se a primeira fábrica de áci do sulfúrico por processo catalítico no Brasil que entrou no mercado de produtos químicos, concorrendo com as indústrias de caráter privado. Isso resultou de uma Tiecessidade, porque Piquete tinha produção gran de demais e não tinha consumo da própria fábrica. *
Recentemente, foram instaladas várias fábricas para produzir super-
20 I)k;iisio
lícONÚMuro
mais
íosfatos, atendendo u ^unde demanda. Algumas fábricas operam
jf em base precária porque se importa o fosfato da África e o enxofre dos Estados Unidos. É uma indústria
xôfre em 70.000 toneladas com a se guinte distribuição:
pois pa¬ rara. no Kio
L assentada em bases instáveis, ^ quando não houver divisas, tudo Assim, operam a fábrica de ( superfosfatos da Ipirange,
I’ Grande do Sul; várias em S. Paulo, ■* uma em Pernambuco; uma em vias de instalação
tôdas funcionam baseada
no Kio. Quase s em maté-
ria-pnma estrangeira. Só a Serrana S. A. utiliza,
®ni parte, minério
na-
Posteriorniente, no Kio, foi feita uma avaliação nos seguintes termos:
extraído das jazidas da r Jacupiranga, no sul de São Paul
rco. É uma situação difícil para ' nül"— ® próprio país L nao e interessante.
O acido sulfúrico é um produto essencial para o desenvolvimento da industria química de um país.
É muito conhecido quo o progresso de o conceito de
a procstá, , um pais pode ser . afendo pela quantidade de ácido sul\f funco que éle consome.
e 0
De acordo com esses dados, ’ óuçao nacional de ácido sulfúrico compreendida entre 134.000 e 160.000 toneladas anuais ou sejam perto de 500 t diárias em 300 dias.
e no quiSe 0 con-
0 consumo brasileiro de enxofre per capita ff é 1,1 quilograma U / consumo de ácido sulfúrico é 2 3. Nos Estados Unidos, o consumo é 71 kg, 31 vezes mais. O interessan te é que o consumo de enxôfr tr Brasil é de um quilograma por pes soa; de ácido sulfúrico é dois logramas, isto é, o dobro. ,, sumo de enxofre nos Estados Uni-
dos é 24, o consumo de ácido sul'r fúrico na mesma proporção seria 48, ' mas é 71. Isso quer dizer que o país é mais fortemente industrializado.
Na era dos 30, 1932, 1933, importávamos menos de 20 mil toneladas de cnxôfre; em 36, importamos 14 mil; em 37, IG mil; em 38, 13.700. Na era dos 40, passamos a 30 mil. Na era dos 50, estamos na razão de 60 mil porque não há enxofre disponível no mercado intemacional. As nossas ne cessidades anuais de enxofre são da ordem de 100 mil, 120 mil toneladas e só temos obtido 60 mil, nos últi mos anos. O consumo de ácido sul fúrico tem apresentado um cresci mento sem igual, só comparável ao crescimento do consumo da gasolina. É nm importante índice de progres so, mas que nos deixa apreensivos

>T30 Dicfato Econômico
V
Para ácido
t Para celulose e papel 8.925 Paru inseticidas e formicidas 6.935 Para açúcar 7.440 Para borracha e vários 2.075 -f A %_I tITooo
sulfürico 44.625
t
Para ácido
Para indústrias quí micas várias 12.000 Para celulose 6.000 Para inseticidas Para pólvora e pirotéc nica 3.000 1.500 Para borracha 1.500 Diversos uso.s 4.000
sulfúrico 50.000 t
78.000 t
!Ç;
i-
Em princípio de 1951 o Centro das Indústrias do Estado de S. Paulo avaliou 0 consumo brasileiro de enI K.
qnando pensamos que ainda não dis pomos de cnxôfre no Brasil para fazer^ face a essa necessidade cres cente.
Dispomos, entretanto, de piritas, como resíduo da lavagem dos carvões do Sul. A maior concentração de piritas dispõe-se no lavador de Cnpivari, onde a Companhia Siderúr gica Macional encontra dificuldades para sc desembaraçar delas. A prin cípio eram acumuladas cm pilhas, dando lugar A combustão espontâ nea e contaminação da atmosfera com o terrível gás sulfuroso. que ma ta a vegetação loca! e causa tanto dano h saúde dos homens. Poi pre ciso transportá-las a certa distan cia para lançá-las num banhado onde estão sendo acumuladas há vários anos, dando lugar h formação de uma jazida artificial de pirita carbonosa.
Se aproveitássemos a pirita ainda não titilizada em Santa Catarina, no "Rio Grande do Sul e Paraná, teríamos o enxôfre necessário ao consu mo atual da indústria química nacio nal. São cerca de 120 mil tonela das de enxôfre combinado que lan çamos fora.
Enquanto nás fabricamos todo o nosso ácido sulfúrico com enxôfre im portado, a Alemanha faz quase todo seu ácido sulfúrico com a pirita obti da de resíduos da indústria. As fá bricas de ácido sulfúrico no Brasil foram instaladas, para usar o enxô fre norte-americano, de alta pureza. A instalação ê mais simples, mais econômica, e o preço do enxôfre sem pre foi muito baixo. Mesmo atual mente o enxôfre americano custa cer ca de 20 dólares por tonelada (prin cípio de 1953) e a produção da piri ta nacional fornecería enxôfre mais
caro. For isso, nunca nos preocupa mos em utilizar pirifa, na época em que não havia restrições de dólares. Com n crise mundial do enxofre e a dificuldade de dólares é que começa mos a encarar o problema e o gover no está ajrora pensando sèriamente na utilização da pirita do carvão. É questão de técnica e também de boa vontade dos produtores no sentido de adaptar suas fábricas ao uso da pirita. A produção com enxofre é muito cômoda; êle é fundido nos tan ques e queimado em maçaricos como se fosse um óleo combustível. Aproveita-se ainda o calor da combustão do enxofre para gerar vapor neces sário a movimentar a fábrica. Não há resíduos, não há fuligem e a fá brica é completamente limpa. M.as, diante da situação, teremos de usar n pirita. utilizando uma matéria-pri ma que tem geralmente apenas de 405^ a 45Í de enxofre e deixa 60? de resíduo incômodo e sujo, que é o óxido de ferro.
os

Dtciesto EcoNÓKnoo 31
O grande produtor de enxofre são os Estados Unidos. Em 1949. Estados Unidos produziram 4.745.000 toneladas de enxôfre. num total de 5.200.000 toneladas para o mundo. O segundo produtor foi a Itália, cora 187 mil toneladas; depois, o Japão, apenas com 1% da produç.ão mun dial; depois, 0 Chile cora 0,1 e outros com menos. Não se tem dado a de\'ida atenção à carência de enxôfre no Brasil. Sempre vínhamos importan do dos Estados Unidos todo o enxô fre de que necessitávamos. Estamos importando de dois anos para cá so mente 50% das nossas necessidades, com funestas conseqüências para a nossa indástria química, que não se pode expandir mais, freada pela caI
rcnciu de enxofre. Seria altamente be néfico encontrar enxofre no Brasil e aproveitar as piritas para fabrica ção do ácido sulfúrico.
?.Intre nós 05% do enxofre impor tado são destinado.s à fabricação do ácido sulfúrico, quado poderiamos fabiácar todo ésse ácido sulfúrico com pirita, reservando o enxofre elemen tar fins mais nobres, onde nao Pe pode empregar pirita.
A instalação de ácido sulfúrico da fábrica de Piquete hoje Usi , na I residente Vargas, foi inidalmonte de.stinada ao emprego de pirita, ultimamente estava trabalhando enxofre importado, pirita fie Ouro Prêto
mas coní A produção do era tão cara que o próprio Governo re.solveu i portar enxofre; além disso, a pro dução de pu-ita da região de Ouro Preto, que abastecia Piquete, 01 dem fie .1 mil toneladas o que é insignificante.
imera da por ano, Se rescrise (Io enxofro, provê uma dificuldade f

iríaco Krasch, paro a extração do | I í-nxófrc ílaíjuelas jazidas. O proces»P'rasch consiste em fazer um potubular com dois tubos concêntri cos, injetando por um dêles água superaíjuecida. A água supcraquecida faz fundir o enxofre, que é bom beado, sob a forma liquida. Assim se explora o enxofre no Texas Lui.síánia.
utur porque o mundo tem enxofre do duas natmezas: o enxôfre de regiões vulcâ nicas, como o Chile e o Japão, e o en xofre de ação bacteriana, como o da Itália, da Sicília, dos Estados Unidos.
Até 1910, os Estados Unidos produziam enxôfre, já tivesse sido encontrado
so ço e na com se souma
nao para piv»-
a nao porque, embora nas per furações de petróleo do Texas e da Lui.siânia, se tinha descoberto ainda um proce.sso econômico extraí-lo. ftste se encontrava ii fundjdades de 500 a 800 metros.
A produção americana não se de senvolveu, recebendo os Estados Uni dos enxôfre da Itália e do Japão, até que se descobriu um processo tec nológico criado pelo engenheiro au::-
í^s.sc enxofre fundido jorra no .seio da terra .sob a forma de um lí quido e.scuro para um depósito, don de é l)ombeado para um pátio armações de placas de alumínio, até um mcti-o fie altura, onde êle lidifioa. Afiuelas armações de aluminio permitem solidificar o enxo fre, formandfí depósitos de 10 a 15 metros de altura, conservam enxofre estocado, ao jir livre. Para exportar, retira-se o material com escavadeiras e remete-se jjara o mundo inteiro a gi‘anel, e, a.ssim, só os Estados Uni dos podem produzi-lo na base de 20 dólare.s poj- tonelada. A natureza das jaziflas e o processo de extração garantem aos Estados Unidos supremacia na produção mundial de enxofre. Perto de Beaumont, Texas, onde se trabalha como acabo de des crever, existem no mesmo local gás natural, petróleo, sal e enxofre. Uti liza-se o gás natural para o aqueci mento da água com que se extrai o enxofre, ficando este a preço mui to reduzido. O preço oscila em tor no de 20 dólares há alguns anos, mas podiam talvez baixá-lo porque tudo é mecanizado. O problema america no é que eles não têm descoberto novos poços de enxofre nessas con dições, com estrutura interna capaz do produzir pelo processo Frasch. Al; reserva^ dc enxofre são avalia-
.r ● ●'■'W
Diuksio Kco.niS;
tí2 c
Os Estados Unidos também sentem de certa Já se >
do da?- em dO anos na base cie consumo atual, mas os pedidos do mundo es tão crescendo do tal maneira que causam sérias apreensões.
Xo !Víéxico também foram descodomos” dc bertos modornamento
enxofro semelhantes aos dos Estado.s Unidos, mas há um certo pessi mismo com rolarão à produção nieTodavia, no México, deve xícana.
Devido à estrutura geológica Brasil nào vemos aqui possibilidades imediatas de terremotos e erul)Çóe^
vulcânicas, que poderíam nos ajudar a i*esolver o angustioso problema do enxofre.
0 Dr. Glycon de Paiva, quando Dire tor da Produção Mineral, estêve mui to interessado em esclarecer as no ticias acerca da existência de enxo fre em Ti‘angola, no Rio Grande do Norte. Estive lá a fim de Ibe depois uma opinião pessoal, mas verifiquei que a produção era muito pequena; não consegui trazer da su posta jazida nem duzentas granms de amosh*a.

É o
haver muitos domos com enxofre nas zonas pTcolòfricamcntc semelhantes às dos Estados Unidos. Tnfelizmente, a proporção tle “domos” exploráveis é muito po(iuona cm relação aos domos descobertos iiorquc nem todos fcf*m capacidade dc suportar aquêlc sistema do exploração, caso da Europa, onde há vários depó sitos cIg enxofro, na Alemanha, na Rumenia. sem possibilidades dc apli cação do processo de Praseh. Não temo.s outra alternativa quanto ao enxofre: o mundo inteiro vai viver dependente do enxofre americano ou do enxofre das repriões vulcânicas, quo ocorre em luprares do eX]doraçno extromamente difícil, como no Chile, a altitudes superiores a 4 mil metros. Além disso, não podem ser explora das para produzir diretamonte enxo fre, em estado de pureza como o do Texas. O enxofre do Chile, da Itá lia e do Japão está contido em ro chas coin 20 e 30% do enxofre, ro chas que têm de ser mineradas e des tiladas, em lucrares onde geralmente não há combustível. As zonas vul cânicas têín a possibilidade de ofei-ecer novas jazidas de enxofro. Co nhece-se o caso de uma erupção vul cânica no Japão que, em alguns dias, formou uma jazida de 300 mil tone ladas. embora tivessem sido perdidas muitas vidas.
rênoia seju valor, uma eruptiva com os granitos regio nais.
Trata-se de uma ooornum contacto de
Assim, 0 problema do enxofre é uma ● preocupação mundial, porque ^ grande indiistria química se baseia nesse elemento. Os países que tèin pirita lançam mão dela e esta é a única solução para o Brasil, conside rando os fatos atualmente conheci dos. O ônus de ter caivão tão mim encontra certa compensação. A nos sa indústria química poderá viver em grande parte com enxofre obtido como subproduto da indústria carbonífera. Nos lavadores de carvão em Tubarão, a Companhia Siderúrgi ca Nacional recebe o carvão bruto, apenas catado e de cada 100 tonela das obtém cerca de 13 toneladas de resíduos oom 32% de enxofre c 10 toneladas de resíduos com 15^1 de enxofre. Êsses resíduos poderão al gum dia ser aproveitados para a in dústria química
Aproveitando-se êsse resíduo de pi rita, se poderíam produzir cêroa do 00 mil toneladas dc onxôfi^e O por ano.
33 Ehr.i ●'TO E<::ovó^^co
i
Governo oi*ganizou uma comissão para estudar o assunto, cujo relató rio foi recentemente publicado. Foi consultada a firma Lurgi, da Ale manha, a maior especialista no .sunto. Essa empresa estudou cuidaas-
dosamente o problema e apresentou três soluções, exigimos da Lurgi que nos fomccesae um processo econômico de produ zir enxofre elementar, jamos pirita, que não pode da nas instalações em funcionamenA Lurgi estudou
Nós, pràticamcnte, Não deseser usato. o procc.sso e
mostrou a possibilidade de fazer i uias a um custo relativamento is¬ so, elevado e com uma técnica que ainpaída não e.stá em prática noutros a extração de enxofre da rita so se faz Canadá.
ses; em pequena escala Êsse pi¬ , . processo consiste queimar pmta, produzindo luroso, absoi’vê-Ios coque.
as suuH instalações, feitas especial*'’ mente para utilizar enxofre america no, que é fornecido no mais alto grau de pureza. Mas, se utilizarmos a pi* 3ita sob produto do carvão metalúr gico, e.staremos até amparando a produção de coípie nacional. Entre tanto, se vamo.s produzir enxofre conformo as recomendaçõe.s da Lur* gi, vamos desfalcar a produção do ; coque, pois vamos consumi-lo numa pioporção equivalente à do enxofre fabricado.
Para
gás s e reduzi-los c produzirmos en
no em ulom xofre iríamos consumir coque, que é também uni pj'oduto escasso no Brasil, solução iria agravar derúrgico.
Tal o problema sireservas de carvão são relativamente As metalúrgica quena.s no^ Brasil. Não podemos con tar com esse tipo de carvão no Rio Grande do Sul.
pef
A lavagem do atual pode produzir todo consumido no País, porém sob a for ma de pirita. Para
carvao no ritmo o enxofre novas instala ções de ácido sulfúrico não havoria grande inconveniente no uso da piri ta, porém as instalações já feitas para o emprego de enxofre elemen tar só poderíam usar pirita mediante custosas adaptações que não devem ner recomendadas.
Nenhum industrial quer modificar
Utilizar as piritas de Santa Cata rina, cm S. Paulo, importa, em pri meiro lugar, cm investimentos mui to grandes nas fábricas de ácido sulfúrico; em segundo lugar, em ven cer a i’o.sistcncia do todos os indus triais que trabalham cômodamente com enxô/re; em terceiro lugar, o cu.sto do enxofre vai ser mais alto, porque o frete da pirita é oneroso. No relatório citado, fala-se na possi bilidade da pirita no lavadror de Tubarão custar apenas 85 cruzeiros a tonelada; o enxofre elementar cus taria 120 cruzeiros. Seria um preço ideal, mas nos parece que na prá tica não se poderá conseguir issa Se se utilizasse a pirita “in loco”, seria uma solução viável, mas não se pode criar de momento um parque industrial em Santa Catarina. Não é econômico transportar ácido sulfúrico, carga eminentemente perigosa. O ácido sulfúrico é sempre produ zido junto ao local de consumo.
Outrora, importavamos ácido sul fúrico em garrafõos, mas logo se ini ciou a fabricação no Brasil e só im portamos pequenas quantidades, em frascos, para uso de laboratório.
Há alguns anos passados uma or ganização holandesa nos escreveu pe- >

I)ici^:Aro Econômico 34 \
I
\ \ ●/
f *
u as possibi lidades do Brasil com relação u pro dução dc bruncu dc titânio, o pig mento branco que veio substituir em grande iiarte o alvaiade de zinco e o litopôniu. Kssa firma queria saber se haviíi a<iiii minérios dc titânio, o seu preço c teor, se havia fie, produção de áciilo sulfúrico e enxoqual o preço dêste, no Brasil. Remcti uma informação com todos os de talhes, declarando ipie o ácido sul fúrico custava cêrea lic um cruzeiro Responderam-mo os dados c se mostrapor quilograma. agradecendo ram muito interessados, mas ressal vando liue aijcsar de muito bom fei to o relatório, haviam notado um en gano: o preço do ácido deveria ser a décima parte do que informara. Não podiam conceber que o ácido sulfúrico fôsse tão caro. O preço do ácido sulfúrico entre nós impede a fabricação de muitos produtos quí micos, onde êle desempenha um pa pel essencial. A indústria do ácido no Bi'asil está amarrada à capaci dade de importarmos enxofre e não
üinüo informa^*õcs sôbr viiUc c tantus üüos as próprias or ganizações estrangeiras que ti*abaIhavam uo BmsU e importavam soda cáustica se interessaram pela cria ção dessa indústria entre nós. A Dupont estudou exaustivamente o pro blema e íêz um inquérito no país in teiro, procurando local com condi ções adequadas à criação de uma grande indústria de soda.
se expande mais por falta de matérianacional. pnma
Não temos aqui ^ probabilidade de assistirmos a uma erupção vulcânica que compense a calamidade, criando depósitos de enxofre, tão úteis ao desenvolvimento das nossas indús trias e do nosso padrão de vida. Estamos na tei*ra mais estável do mundo, mas não na mais bem dota da de riquezas minerais.
Outro obstáculo ao desenvolvimen to industiúal do Brasil é a inexistên cia de produção doméstica de car bonato de sódio e soda cáustica. Últimamente, o Governo se empenhou muito nesse problema e já há uns
reu o Estado do Rio Grande do Nor te, depois passou ao Estado do Rio, a tôda a costa. As condições neces sárias para uma indústria de soda cáustica são as seguintes: ter sal em grande quantidade e pureza suficien te; ter calcários
dições; ter água abundante reza
Percornas mesmas concom pue temperatura adequadas
Foi impossível achar todos os requisi tos reunidos numa mesma região que prestasse à implantação dessa in dústria. se
A indústria da sóda cáustica utili za 0 sal-gema e -nós temos a produ ção de sal baseada na evaporação da água do mar. 0 sal marinho é ge ralmente um produto caro, sempre produzido, em pequena escala, e de pendente de condições atmosféricas imprevisíveis. Às vezes, uma chuva, eni época inadequada, destrói milha res de toneladas de sal já pronto pa ra a colheita.
Já conhecemos no Brasil jazidas de sal-gema, mas em condições de exploração muito difíceis. Em 1942, descobriu-se o sal-gema, perfurandose 0 solo em procura de petróleo, em Sergipe e Alagoas. As de Alagoas não foram ainda estudadas, achamse situadas a cerca de 1200 metros de profundidade. As de Sergipe fo ram objeto de consideração das com panhias particulares. A Companhia

L)iCüsi'o K<.:oNt'»MiCü ãõ
I
uso no Depoi.s para ê.sse
(li‘pcj.sil4>s (Ic .sal-Kcma terão u sud
existência valorizada,
Interessado cin dar unm solução a J ^ 'jni problema tão dificü quanto es* 4 ^t-neial ao desenvolvimento do Brasil, o flovérno resolveu criar a Compa nhia Xacional <ie álcalis, nos mol des da Companhia Siderúrgica Nacio nal, com a participação do Tesouro, dos Institutos de Previdência e da economia ])0))ulur.

As Indústrias Brasileiras Alcali nas S. A., reunindo interesses du Dupcrial e da Solvay, fêz a Companhia Sal-Gema iizar o sal de suas tou alguns milhões de cruzeiros em pesquisas, no Estado de Sergipe, tudando exaustivamente o problema da extraçao do sal, da utilização dos calcarios e do abastecimento dc á Recentemente existência de sal-gema
um acordo com para uticoncessões. Gasesagua. foi constatada espessas camadas de região’de Nova Olinda, ^ no Rio Madeira, (Amazonas) onde ^ estão sendo feitas pesquisas de pey troleo pelo Conselho Nacional do ■ tróleo.
a na PeNo momento é prematuro pensai-se numa industrialização do ^4, sal naquela região, que fica num raio de 150 km em torno de Manaus; tretanto, algum dia esse depósito po derá ser explorado e fornecer a
enma téria-prima para a indústria da soda ‘ na Amazônia.
Atualmente estão sendo feitas y; muitas pesquisas visando a produzir (>' celulose utilizando as florestas troy picais. Quando se chegar a uma Ü lução satisfatória será o momento de criar uma indústria química próxima às gji’andes reservas florestais da Amazônia, e nessa oportunidade tais
sof4^àííi.
Foi escolhida a zona de Cabo Frio para sede das atividades, cm vista da p(jssihili<laíle dc produzir ali sal ma linho cm grande escala; entretanto muitas críticas foram levantadas pe la escolha daquele local.
Após longos estudos sôbre as con* diçõc.s de abastecimento de água, de calcário, de combustível e de sal ficou definitivamente resolvido ini ciar ali a fabricação de soda em lar ga escala.
Kstão já em andamento as provi dências para a construção da usina que, dentro em breve, virá forne cer ao mercado brasileiro um pro duto químico tão essencial a nume rosos ramos do atividade.
Polos fatos expostos nessas linhas verifica-se que a despeito da carência de certas matérias-primas essenciais, cm condições de serem exploradas com vantagem, a indústria química tem progredido muito no Brasil.
Dada a carência de carvão bom, de petróleo nas quantidades necessárias, dada a falta de enxofre, e do sal gema em localização adequada e fá cil exploração, temos de vencer ár duos empecilhos para dotar 0 País das indispensáveis especiarias modernas fornecidas pela química indus trial.
j
3(5 r r' )5u:^-‘^■() KcoS
-| I
Sal-(icma, Soda Cáustica c Indú.strias Químicas desenvolveu grande atividade, a fim de explorá-las. Fo ram feitos contratos com a Duperíal, e a Solvay, que é pioneira da fabri cação dc soda cáustica pelo amonía co, que substituiu, no mundo inteiro, o antigo processo Leblanc em começo do século passado, de muitos anos, passou-se outro processo muito elegante, ba seado na reação entre 0 sal e o bicarbonato de amónio. l á\ i2^
I
Desapropriação por interêsse socíál'í.j:'
C”ahlos Mkduuos e Silva
forma de desapropriação, por intex'êssc* social, (pie foi incluída na Cons tituição do 19IG.
A desaproiniação scmiire foi ad mitida entro nós. A Declaração dos Direitos do Homem, votada na Re volução Francesa, Já consignava que a proj)iiedade era sagrada e invio lável c iiue o proprietário só poderia j)erdê-líi nos casos de necessidade pública
determinado, vamos conv(.‘rsar hoje, sobre a nova Essa exposição foi feita no ConseÜnrfl Técnico da Confederação Kaeional í/Ji Comercio que, em suas sessoes plrn^m rias, esgotou o assunto. 4irocoeon c^Mê exposição acalorados debates, em í/u5*] com argumentos contrários, j lUitadamcnte, os Conselheiros Dario Almeida Magalhães c San Tiago Dantas.^ O autor désse trabalho, Carlos e Silea, jurista de grande valor, notáveis pareceres, muitos dos quais ^9 tão ríMuidüs cm volume. '-HB
mediante indenização. o
Posteriormento, o Código Civil, o Có digo Naiiolcão, decretado nos prin cípios do século XIX, cm 1807, in cluiu unui outra forma dc desapro priação: a desapropriação por utili dade i^ública. Assim, passamos a ter duas formas dc desapropriação: a desapropriação por necessidade pú blica e a desapropriação por utili dade pública.

i;
desapropriação poi* necessidade e por utilidade pública, propriação por necessidade pública, quando o Estado se encontrava numa situação irremediável e irremovível, precisando lançar mão da proprie dade i^rivada; esses casos seriam ve rificados pelo Poder Judiciário, me diante provocação do Procurador da Os casos de utilidade pübli-
Dava-se a desaCoroa, ca visavam atender a interesses me¬ nos prementes, embora públicos; e a utilidade pública se verificava atra-
Estas desapropriações eram rarissinias.
Quando se iniciou no Brasil n * construção de estradas de ferro, fobj votada uma nova lei determinando que o justo preço de propriedade ex- ’ propriada fosse estabelecido por um júri, composto de dezoito proprietá rios, incluídos numa lista da pelo juiz, dentre pelas partes, escolhidos os árbitro A lei votada em 1846 tirou essa atri5 buição do júri e a entregou a árbiti'os escolhidos pelas partes. Depois,
orgamza^ os quais seriam
A Constituição do Império, no Bra sil, tratava da desapropriação e, logo depois, em 1826, tivemos uma lei or dinária estabelecendo as formas de i
vés de ato do Parlamento, mediante, í também, provocação do Procurador| da Coroa. Posteriormente, em 1849, tivemos uma nova lei de desapropria—j ção, de caráter mais amplo e que 1 operou modificação substancial no J instituto, porque retirou da aprecia^ ção do Poder Legislativo a verifica® ção dos casos de utilidade pública,B transferindo-a para o Poder Kxe- * cutivo.
sobreveio a Constituição de 1891, que repetiu a fórmula tradicional: garantido o direito de propriedade, permitiu a desapropriação por neces sidade e utilidade pública. No cipio do século XX, quando se ini ciaram as grandes obras de remode lação da Capital da Uepública, foi feita uma nova lei de desapropriação, denominada de “Consolidação”, essa lei se seguiu o Keguiamento de 1003, de autoria do Ministro J. J. Seabra. Ela regulou o instituto seni - grandes inovações, alargando

casos de decretação de desap pnação — por utilidade pública.
^ essa lei seguiu-se o Código Civil, que ; no art. 570, discriminou as hipóteses . üe desapropriação por utilidade pública e mencionou, * jpalmente, a possibilidade do Esta¬ do lançar mão da propriedade priva da nos casos de
profundas no insti tuto: rü(fulou a par¬ te substantiva c a parte processual, uma prm- vez que, desde a Constituição de 1Ü3-1, já vivíamos sob o reíjime da unificação do processo ci vil. Unificou também a enumeração uu discriminação dos casos dc neces sidade e de utilidade pública, pois não havia mais razão do ser para essa separação, que tinha, apenas, um va lor histórico, porquanto o processo de decretação da desapropriação, quer num, quer noutro caso, obede cia aos mesmos trâmites. Històricaniente, de acordo com a lei de 1826, é que havia a razão para a discrimi nação, porque cada um dos casos obe decia a um processo diferente.
os roA por necessidade e
Essa nova lei, de 1941, transferiu
apenas gando, posteriorí^P^ff^ iihmente, pa- dos árbitros para o juiz a fixação de A nartP indenização. Até então, a atitude do
Constituição^ de 1891 ficL^^Sète^ “ ‘'°-
Nessa fazer uma epocü, 0 Governo resolveu nova lei de desapropriaK çao e tive oportunidade de nela colaP borar, porque, então, exercia a fun-
ção de Assistente Jurídico do Minis tério da Agricultura. O projeto foi publicado para receber sugestões afinal, convertido lei — 0 dec. lei n.®
em
trâmites’nee_essários\"efetívrçã“ da j2.; “ ■' rou até^^941^° ^ i'egime vigo- desempatador; e, de acordo com o laudo, 0 juiz proferia a sentença, fixando a indenização a pagar. 0 juiz não podendo entrar no mérito do laudo, aceitava a avaliação feita, ou mandava que se procedesse a novo arbitramento. No caso de re curso para o tribunal superior, o juiz se comportava do mesmo modo: homologava o laudo ou mandava que se procedesse à feitura de outro. To davia, pela nova lei, o juiz passou a dirigir, efetivamente, o processo. O Essa papel do árbitro e do laudo é, mera mente, informativo. Cabe ao juiz a fixação da indenização e, também,
38 Dicksto Económk
. .
A
r -i;:SoT:et
então, nomeava um terceiro.
(.
3.365, de 21 de julho de 1941, que está ain da em vigor, lei, na verdade, introd u z i u modificações 5 i
no caso de recurso pnra o tribunal superior, esto pode entrar no mérito e determinar o pníramento da inde nização que lhe parecer mais justa.
A lei aumentou, consideravelmente, n defesa do proprietário. Operou alífumas modificações do ordem ccssual, simplificando o sistema, toi*nando o processo mais rápido; excmiilo. dispensou formalidades ini ciais do proco.sso, mas, iimn voz ci tado o expropriado, o processo scpue o i'lto ordinário.
propor no senpor com a aéroos, etc.
Essa lei. apesar dc ter por um la do opoíado transformações tido dc írarnntir o expropriado, outi’o lado, ampliou a enumeração dos casos dc desapropriação por uti lidade 7>ública; provocou, então, rea ção nos tribunais, porque a sua exe cução coincidiu, exàtamente, nfrravação do período inflacionário. Por volta do 194íí o 1914. o critério fi.scal, que a lei sepruin, que vinba desde a lei dc 1845 o que tinha por si essa ti'adíção quase secular, passou a ser repudiado pelos tribunais — a meu ver, sob o ponto de vista jurídico, sem nniito fundamento, porque à loi ordi nária ó lícito estabelecer critérios de indenização c ,o foz, em se tratando, por exemplo, de indenizações por acidente de trabalbo; no Código Ci vil, nos casos de indenização por ato ilícito; G nas indenizações a vítimas dc acidentes em transnortes Entretanto,
●tribunais repudiaram o crítório fiscal, que, aliás, na lei nova. era mais amplo do que na lei antiga: a lei antiga es tabelecia os limites de 10 a
15 vezes o valor locativo, enquanto lei nova fixou o limite de 10 a 20 ve zes sobre êsse valor. Os tribunais, 1 i
porém, repudiaram êsse critério, en tendendo ser êle insuficiente, tendo em vista a desvalorização crescente da moeda. Foi, então, desprezado êsse critério puramente fiscal para fixação da indenização.
a
porque a nova Carta Magna intro duziu um vocábulo, no dispositivo referente à desapropriação, vocábu lo não encontrado na Constituição anterior: disse que n desapropriação devia ser prévia, justa e em dinhei ro. Na ocasião, em 1945'1946. escre ví dois trabalhos, em defesa do cri tério fiscal. Entretanto, essa juris prudência, hoje. é vitoriosa e não so fre mais contestação, jurispnidência se alargou, no sentido de pagar honorários de advogado e outras despesas acessórias, que, até então, não eram admitidas cossos de desapropriação.

os em nosso meio.
Também a nos pro-
A Constituição de 1946, inovou so bretudo, em relação às anteriores, por instituir uma nova forma de de sapropriação. a que chamou de desapropriação por interesse social. Deve-se essa inovação a uma emenda do Senador Ferreira de Souza. Pro fessor da Faculdade de Direito. S. Ex., na sua iustificacão. sustentou que a nronriedade tem uma fnncão social, fórmula essa oue fora ureconizada nor Aiunisto Oomte nos meados do século passa do e que teve grande prestí gio entre palmente entre franceses,
os juristas, princiGs juristas com receptividade
Vou ler alguns trechos da justi ficação do Senador Ferreira de Sou za, porque ê, na verdade, 0 imicq
I''t:oNÓMic:<) 39
Como advento dn Constituição dc 1945, essa tendência se acentuou, 1 r
a
subsídio histórico que temos para [ conceituar essa forma de desapro¬ priação, já que ela não existe em ou; tros países e, entre nós, mio tem antecedentes. Foi. realmentc, devido ^ à palavra do Senador Ferreira de t Souza que se introduziu, na Cons’ tituição, essa nova forma. Disse, tão, S. Exa.. no seu discurso, aliás, foi breve, justificando emenda:
cnque, a sua /
> i:
sua família, me.smo os que cons tituírem economias para o futuro, é perfeitamente lócnco, mesmo de Direito Natural. l^Tas, alóm dêsse nifnimo, ou a propriedade tem função social, uma ou 0 seu proprietário
a explora ou a mantém dando-lhe utilidade, concorrendo comum, para o enriquecimento ral. ou ela não se justifica, hipótese, a emenda não chepa extremo de nep:á-la. pondo o hem vidual, admite

para o hem í?eNa ao Mas, supercomum ao bem india expropriação das
propriedades inúteis, das que podoriam ser cultivadas e não o são, daquelas cujo domínio absoluto che/ra a representar um acidente aos outros homens.”
emenda no seio da Comissão Constitucional, voltou o Senador Ferreira t de Souza ao assunto c disse pyuinte:
o se-
it .'V1' , I. w
tude. Ora, se há conceito que vem M, sofrendo, nos último.s tempos, certas modificações, aceitas por todos T aquêlos que se preocupam com os T problemas da justiça social, é o 1 da propriedade. Não estamos mais nos vellios tempo.s da propriedade quiritória, nem naqueles em que ela so definia como direito de iisar. prozar e abusar de uma coisa qual- t quer. Foram-so os tempos, a ópoca em que a propriedade era consi derada um atributo individual, des tinado :i satisfação de prazeres ou neoes.sidades individuais, .sociólopros e juristas estão de acor do em que a propriedade, se não era uma necessidade social, tem es sa função. Sem se atentar nessa feieão social, ela se tornaria insti tuto quase injustificável. Fis n razão pela qual a minha emenda evitou a expressão “em tôda sua plenitude” e quo só se comprccndcria no ro^mo anterior, de pro priedade ahsoluta. Por outro lado, Sr. Presidente, o anteprojeto da Fcrrécria Subcomissão só admitm dois casos do desapropriação, os quais tambóm vou chamar clássi- , cos: a desapropriação por neces.sidade piiblica o a por utilidade pilblica. As expressões necessidade e utilidade piiblica tem sentido fartamente conhecido por todos os Srs. Popresentantes e absnlutamente inalteráveis, no camno do direito. Diz-se de necessidade pú blica quando a desapronrineão visa a possibilidade de um serviço pú blico qualquer, nm serviço do Es tado, uma utilidade do Estado, ou de que o Estado se encarreprue pnbem dos indivíduos. Essas res- ;
ra trições, inteiramente compreensí- *
●'Ti DrcEffTO Económ i** 40 rfl
I
Hoje,
'<1 U f
.1 ●ui■Ks
« Que o homem possua como seu, de forma absoluta, aqueles bens neee.ssários à sua vida, h fissão, ã sua prosua manutenção c n da .-4
/
Posteriormente, discutindo a sua
Sr. Presidente, a Eprrépcia SubComissão. definindo, por assim di zer, o direito de propriedade, fê-lo nos termos clássicos das Constitnicões anteriores; o direito de nropriedade mantém-se em sua pleni-
veib no regimo uuicrior, nâo po- Constituição, pronunciaram-se tamdein inaiü protendcr o monopólio bém sôbre ela alguns juristas, entre do instituto du desapropriação. De vemos estubclccer também u pos sibilidade du uma desapropriação que nàü seja iiom por necessidade do Kstadü cm si, como órgão di-, i-etor da .sociedade em geral, nem mesmo íjoi* utilidade publica, pa ra qualquer serviço do Estudo. I\ias devemos também possibilitar a de sapropriação sempre que necessá rio â ordem social, à vida social. Vamos citar dois casos: nu socie-
os quais 0 Proí. Pedro Calmon, que, iguulmento, deu um sentido elásti co à nova.forma de desapropriação, dizendo:
“A desapropriação, nesta hipó tese, significa a incorporação pa ra u distribuição, que se pressupõe equunime, e, então, melhor se de nominará de justiça distributlva do Estado — tendo por escopo o interesse social, assim no seu primadox. sôbre a esfera indivi dualista da açao uude purumente individualista, que compreende a propriedade como um direito absoluto, admite-sc a propriedade dos bons que não pro duzem e recebem valorização do próprio Estado ou do trabalho co letivo. Evidentemente, essa pro
priedade improdutiva, que o pro prietário não explora no seritido de transformá-la numa utilidade ral, criando riqueza para a cole tividade, é mn pGso para a socie dade. O proprietário tem, èm seu favor, tôda a proteção da lei e da autoridade, recebe as conseqüências do enriquecimento resultante do trabalho geral e da própria ação do Estado; e nada lhe dá em virtude desse mesmo direito. De-
vc ser possível ao Estado, em casos especiais, desapropriá-la, a fim de tornar a propriedade uma utilida de, uma riqueza social, seja por que vá dividi-la entre os que pre tendem cultivá-la, seja para outro fim de ordem coletiva.”
Foi esta a justificação que levou os constituintes de 1946 a introduzir a inovação no campo de desapropria ção.

Posteriormente à promulgação da
Também o Sr. ^Yaldemar Ferreira, Professor da Faculdade de Direito de S. Paulo, disse que essa forma de de-
e promover a mem-
ecoDomica. saproprmçao era o meio hábil de combater o latifúndio ijusta disUãbuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 0 Sr. Prado Kelly, que foi
ge- bro proeminente da Assembléia Cons tituinte, líder da UDN, numa confe rência que pronunciou logo após a promulgação da Constituição, tam bém disse que essa inovação tinha obedecido ã inspiração de que a pro priedade tinha função social; e que isso permitiría a justa distribuição da riqueza, cohi igual oportunidade pa ra todos — expressão esta encontra da, igualmente, na Constituição, art 146.
São escassos, por assim dizer, elementos que possuímos para cara os ctenzar essa nova forma de desapro priação. Enti’etanto, o discurso do Senador Ferreira de Souza é bastan te eloqüente para oferecer a uma caracterização.
margem
O Sr. Presidente da República, examinando processo em que se su geria desapropriação por interêsse
iiCtíNlO-i; 1 ■ ●li H I V
/
social, cnviou-me o expediente. X.! qualidade dc Consultor Geral da ICu-
pública, emiti parecer entendendo ser inviável a idéia, porquanto não tí nhamos ainda ici deíinindo
os ca-
7 sos de desapropriação por interesse social. A mim se me afigurava ^ cessária essa lei, uma vez neque 03 ca« sos de desapropriação por necessida|r de e por utilidade pública ■ ' foram definidos em sempre norma legal; , tanto mais que se tratava de impor f restrições ao direito de propriedade, y matéria essa tipicamente de direito f substantivo. A lei podería, casos de desapropriaçao por interêsse social, determinar ficasse ela a discrição de ato do Poder Executivo.
literal do art. n.® 147 da Constitui- ''^^1 ção, onde se alude uo assunto. À Comissão pareceu interessante definição, porque se tratava de um instituto novo; enquanto a defini ção da necessidade c da utilidade pú blica é já secular, essa nova forma não tinha ainda seus contornos bem definidos.
Em sejfuida, o anteprojeto enume rou os casos de desapropriação por interesse .social.
1.
S. Exa., aprovando
assim, definindo os meu parecer, no meou uma Comissão, da qual fiz parte juntamente com o Sr. Seabra fagundes, autoridade consagrada no assunto, escritor de livros clássicos sobre desapropriação

f' pública; e com o Sr. Theod^o Arthou, advogado militan- . te no Distrito Federal, bastante sado nesses assuntos e que exerceu recentemente, o cargo de Procuraj dor Ger^ da Justiça do Distrito Fe●' deral.
Visou-se a questão do latifúndio ou da incrementação da produção em áreas que estão sendo cultivadas inadequadamente.
No item II, tratou-se de assunto, que é, em substância, o desdobra mento do anterior.
No item III, focalizou-se o esta belecimento e a manutenção de co lônias ou cooperativas, atendendo a que essas coletividades de produção merecem uma atenção especial do le gislador.
essa y cons-
Tratou-se, em seguida, da tru^ão de casas populares e das terque se valorizam extraordina riamente, em conseqüência das obras de irrigação e de saneamento.
Previu-sG, finalmente, que outras hipóteses poderíam ser cogitadas em lei especial. É dispositivo que pode parecer inócuo, mas assim não acon tece, porque se trata de uma adver tência ao legislador estadual e mu nicipal e, bem assim, ao Poder Exe cutivo, no sentido de que só median te lei do Congresso poderá ser alar gada essa enumeração.
re-
art. 1.0 é reprodução quase
y 42 fif Dn;i*io KcüNÒMicl i: ^
'
i
Nesses casos, o que se teve em vis ta, principalmente, foi a tomada da propriedade individual, não para uao direto do Estado, mas para utiliza ção de outros indivíduos. É a gi‘ande / r r ●f
●r 0
por neceasidaverEssa Comissão elaborou que foi submetido à consideração do Sr. Presidente /■ República. 0 projeto ti. \ ● r
um anteprojeto, da caracterizou essa nova forma de desapropriação, com os elementos u que já me re feri e também consultando alguns < projetos que estão ainda em dis cussão na Câmara e no Senado. Depois dessa consulta e de madura flexâo sobre o assunto, a Comissão elaborou um anteprojeto, cuja sín%. tese é a seguinte:
inovação. A desapropriação tradi cional sempre se fÔz quando o Esta do, por si ou por seus delegados, como os concessionários de sersdços públicos, tinha a satisfazer uma ne cessidade dele. Admitia-se excepcionalmentc a desapropriação para revenda, como a de áreas adjacen tes às áreas necessárias à construção das obras públicas. Também o de creto-lei {le 1941 admitiu a desapro priação para atender às necessida des urbaní.sticas, mas tudo isso mui to timidamente o, sempre, o/n prinieiro luprar, visando o interêsse do Estado. Entretanto, a desapropria ção por interesse social vai aten der ao interêsse de grupos ou de in divíduos, isto é, o Estado lança mão da propriedade privada, para que ela possa ter, com outro proprietário, a utilização social que não vinha ten do. A desapropriação será, então, ti picamente, desapropriação para alie nação, para revenda àqueles que es tiverem em condições de dar à pro priedade a finalidade social até en tão esquecida.
imóvel cuja produção fôr inferior a cinco por cento de seu valor. Essa produção é estimada pelos critérios em vigor para o imposto de renda. Isso porque a lei do imposto de ren da e o seu regulamento estabelecem, para as propriedades agrícolas, a renda presumida de cinco por cento. Assim, já há critério fiscal para aferir-se da renda razoável, digamos dessa forma, ou da renda mínima de uma propriedade agrícola.
Será possível, portanto, a desa propriação dos terras que, não cul tivadas ou inadequadamente culti vadas, não preencherem as necessi dades dos centros de consumo. En tretanto, para evitar abusos, necessidades deverão ser definidas, prèviamente, em texto expresso, bai xado pela autoridade municipal fim de que os proprietários possam ajustar a utilização ou produção da terra a essa classificação preestabe- lecida.

essas a
Real-
Em segT.iida, o projeto define o que seja imóvel improdutivo, uma vez que essa expressão é vaga e não po dería ficar sem delimitação. Decla ra-se imóvel improdutivo o que, du rante os líltimos três anos, não atin ar ao índice de produtividade fixado pelo Ministério da Agricultura, para a respectiva região. O citado Minis tério está procurando estabelecer índices mínimos de produtividade, nas várias regiões do País. mente, é esse o critério ideal. En quanto, porém, esse critério não fôr estabelecido ou estiver sujeito a mo dificações, prevalecerá um outro, is to é, será considerado improdutivo o
Em seguida, diz o anteprojeto que desapropriação poderá importar na perda da propriedade, ou de sua utilização temporária, uma inovaçãj) porque, até então, a desapropriação importava sempre na perda da propriedade. Mas, desapropriação por interêsse social visa, principalmente, à intensifica ção da produção, ou melhor, ao en quadramento da propriedade à urilização social, essa utilização po derá ser conseguida sem a perda da propriedade, inclusive
a Trata-se de como a sua com a toma da de uso por prazo que o anteproje to fíxa.
Diz 0 anteprojeto, os bens em seguida, que ^apropriados serão obieto de venda ou locação, atendendo a destinaçao social prevista. No caso
Dicesto Econômico 43
t dc utilização temporária, o respecti vo prazo não deve ser inferior a três ' anos. Quando fôr .superior a dez ^ anos, o proprietário poderá rccla-
mar indenização total, ou conside-
rar a propriedade como defínitivamente alienada ao poder público,
& terceiros e reclamar, então, f denização total.
ou a mI.sso é necessário
jtara. evitar abusos, de uma desap
priação de uso perene, sem limite, ou, então, por prazo extremamente \ exíçuo, que não seria suficiente * ra transformar
ropaa propriedade impro dutiva em propriedade produtiva, do acordo com as tividade. reclamações da cole-
I Depois, o anteprojeto fala em coi\ sa muito importante, isto é, toca
í. principal da matéria, t fixação d
o que é a e indenização.
P dê.ste ponto É em torno ^ se têm travado
í lutas judiciárias. O anteproT jeto diz que a justa indenização ; caso de perda da propriedade, i- preenderá
as no com. , preço de aquisição, valor _ das benfeitorias realizadas ' posteriormente, bem como os impostos pagos, acrescidos dos juros lef' gais. Êste critério vigorará para » as propriedades chamadas “improdu^ tivas”. Neste caso, o que se dá é ^ ● uma restituição ao estado anterior.
I O poder público devolve ao proprietário aquilo que êle despendeu, acres*' cido dos frutos naturais; restabelece, 1 ‘ pois, o status quo ante.
H‘ De certo modo, é o custo histórico se a desapropriação recair sobre g.'- imóvel improdutivo — mas quando o !&’ índice da produção do imóvel, últimos três anos, fôr superior previsto, a indenização, além das Ç«, parcelas mencionadas, compreende rá a valorização que houver. Natu-

rnlmcntc ter-sp-á do fazer avalia-ção íreral polo (;ritório comum. As sim, o anteprojeto estabeleceu dois critérios do indenização: para o imó vel improdutivo o para o imóvel pro dutivo. No piimeim caso a indeniza ção é re.strita; no scfrundo caso, a indenização é comum ou ampla. Se a desapropriação tiver por objeto a utilização temporária, o prazo será marcado pelo poder oxproprinnto e o preço fixado judlcialmcnte, atendondo-se, para o computo da indeni zação, aos critérios fiscais o às repras do art. 4.^ Subsidiàriamente, se rão aplicadas as normas da Icjsrislação. Nesse caso, o anteprojeto não achou prudente fixar normas. Dei xou que os juizes as fixassem por arbitramento em juizo, para evitar abusos tanto do poder exproprianto, como do proprietário. Por exemplo, o cidadão que tivesse uma proprie dade absolutamente improdutiva po dería obter uma desapropriação de uso muito vantajosa; seria um arren damento ao poder público por preço que não fosse justo e sim lesivò aos cofres piiblicò.s. Também seria difí cil estabelecer critérios que deves sem vifforar em prazo certo. Manda 0 anteprojeto aplicar, subgidiàriamente, as normas da leffislação 'co mum porque, durante a ocupação temporária, snrp:írão, necesshriamente, muitos conflitos entre o pro prietário G o novo ocupante da teiTO, com relação a colheitas pendentes, conservação de benfeitorias, etc.
nos ao ,c.
São estas, Sr. Presidente, as prin cipais razões que levaram a comis são especial a articular por esta for ma exposta 0 anteprojeto, reprulando os casos de desapropriação por interesse social. O anteprojeto se ^
i.' 44 Dicesto Económ y
X
^
*J
^
o o ●_M
o
** yy: y-,1.
encontra cm mãos do Sr. Presidente da República, que ainda não delibe rou sôbre o seu mérito. Mas, prova velmente, o anteprojeto será rometi-

45 DiCKs*ix> Econômico
do ao Congresso Nacional, no qual Fofrerá n devida crítica e receberá a cooperação, ou o subsídio valioso dos Srs. Deputados e Senadores. \ r I
'
Aspectos do Padrão de Vida no Brasil
JoÂo J(x;mmann
í
Á um ano e
Hmeio, a Comissão Na cional de Bem-Estar Social exe para sua realização diriírindo e fis calizando os trabalhos cm seus Esta<los e municípios.
í.
i,/ I
'■"'^"'‘^‘los, relativos
É bem verdade qiie já existiam tre nós pesquisas de padrão de vi da, alífumas das quais da autoria de técnicos renomados. Basta lembrar as de São Paulo e Recife. No entan to, realizadas em épocas diferentes e por autores diversos, lonpe de servirem de método uniforme e de se referirem a jfrupos populacionais idênticos, os respectivos resultados não ficaram comparáveis entre si. Tíil comparabilidade era um dos prin cipais e.scopos da nova investigação.

r no ado, para tonesoni^tr, abrangidos pela
ensc sem
mento dessa envergadura foi executado com tamanha presteza. 68 praças indus triais foram objeto de investigação, organizada e executada não por uma das repartições estatísticas instala das e apaixílhadas, mas por uma equipe ^técnica designada pela dita Comissão e que se desincumbiu da ta refa sob a direção do Prof. Guerrei ro Ramos.
vezes um Essa equipe contou
^ a ajuda de técnicos em todos os Es tados, os quais, compreendendo significação da obra, continbuíram r. í
í-,'
■*
>
'
Até agora, as estatísticas existen tes fornecem índices para a avalia ção dos setores mais variados da vi da nacional; do campo demográfico, da órbita econômica e financeix*a, falar no material abundante, pôsto que nem sempre muito atualizado, sôbre assuntos educacionais. Em to das essas esferas, o pesquisador en contra numerosas estatísticas que lhe permitem medir o grau de desen volvimento e as diferenciações do mesmo, nas várias regiões do País. no capítulo consumo havia um grande vácuo, um eterno ignoramus. A nova pesquisa começou a supri mir essa lacuna. Parece supérfluo frisar a significação dêsse empre endimento, em uma época eni que as díscusalões políticas, econômicas e sociais, mais do que nunca, precisam de uma base real capaz de fornecer argumentos objetivos, busçados não Só
cutou uma pesquisa de padrão de vida, com âmbito nacional, ram-se ao todo três Investigagrupos sociais: o operariado industrial, dos bancários e os pequenos agricul tores. Êstes últimos foram pesqui sados pelo método monográfico nreo''nru‘’“® opsrários e bancários preencheram questionários c cadordf“conr-'^"''''questí^n^^” ° preenchimento dos questionários, começon a divulgação famnr"'"‘"r
às Sravís' industriais!
os empregaencuio Sinopses preliminares, dos ano pass os
S ja em dezembro de 1953 Anuário Estatístico do Brasil repositorio central das oficiais brasileiras principais dados dessa Raras
« o estatísticas — transcreveu os apuração, empreendi f '●
com
a
om intranslgfôncius doutrinárius ou paixões partidárias, mas nn realida de dos fatos.

Os tiuesti(>nários usados tinham três tjrandes eapitulos, dos quais o primeir<i pc<liu características indivi duais, o segfuiulo, informações sôbrc a liabitação, e o terceiro, dados so bre as finanças da família, relativas ao mês de agosto de 1952. Precedeu a pesquisa uma escolha cuidadosa das praças a investigar, escolha essa fei ta com a ajuda dos melhores conhe cedores das diversas regiões. Que ria estudar-se a situação não só nos grandes centi'os industriais, mas tam bém em j)iaças menores, porém dc elevada significação regional e, em alguns casos, de estrutura toda es pecial, como, por cxcniplo, Juazeiro do Norte, Kio Tinto e Arroio dos Ratos. Outro levantamento preli minar, executado in loco^ visava, obedecendo aos preceitos modernos de amostragem, garantir à massa pesquisada o maior grau possível de representatividade. Partindo-se das indústrias que em cada localidade são dc maior importância, foram se lecionados estabelecimentos grandes, médios e pequenos, que então cola boraram com a direção da pesquisa, fornecendo as listas do pessoal com a informação dos salários e do núme ro de pessoas das respectivas famí lias. Dos operários dos referidos estabelecimentos foram escolhidos
para estudo os que Xòsseni ciicfes dc íamilia, com vida conjugal, que tivessem pelo menos um filho coiivivente e que percebessem salário dentro da faixa das maiores fraqüôncáas.
Dessas famílias a metade preen cheu, além do questionário, uma ca derneta, na qual foram anotadas, du rante seis semanas, todas as recei tas e despesas ocorridas.
Os dados adiante expostos refe rem-se apenas a CG centros urbanos, porquanto o material dos dois restan tes chegou à sede com atraso tal que sua apuração ainda não pôde ser concluída.
As 66 praças distribuem-se por todas as Unidades du Federação. Pa ra a apresentação dos resultados, agimpamos as mesmas em quatro grandes wgiões; Norte (inclusive Nordeste), Leste, Sul c Centro. Tais regiões correspondem às estabeleci das pelo I.B.G.E., sendo de notar que, como 0 Distrito Federal e o Estado do Rio de Janeii*o, sob o ponto de vista do clima e da estrutura econô mica, têm mais afinidade com o Sul do que com o Leste, incluímo-los naquela região, emboi-a oficialmente uertençani ao Leste.
As localidades abrangidas pela pes quisa e as famílias investigadas, com as respectivas pessoas, distribuemse por essas quatro regiões da se guinte maneira:
47 Dickíto Kconómíco V
1 T I Regiões Localidades Famílias Pessoa Norte Leste Sul Centro 19 816 3 606 3 359 6 224 16 742 27 1 461 4 163 736 Total 66 3 182 13 925
Como se ve, essa distribuição não corresponde ã da população c muito menos ã da indústria. Isso porém
da.s.
VOlí- \t t { Regiões Econômicamente ativos Alfabetizado.s Norte Leste 32,5 31,4 48,7 66,8 t Sul 33,3 29,2 78,2 Centro 69,0
A dispersão da primeira dessas nes e pequena, dos ativos A maior participa
seção na massa investigada regiao Sul, deve-se provàvelmenté lato de ser esta a zona de maior de^envolvimento econômico, especiaU mente industrial, oferecendo, assim -^Posas dos operários e a'seus
liar, .segundo o qual é condenável a atividade econômica da mulher fora do lar.

■R, qüôncía, nas demais ■J
t ao com maior fre„ , legiões do que no bul, certo conceito da vida fami-
, K Ihos maiores possibilidades de empré, go fora da casa. De resto, atrii buimos também certa influência ,}! r. fato de se observar
V
localidades investiga- as
No que se refere à percentagem dos alfabetizados, nossos resultado.s revelam com bastante clareza o pro gresso que alcançou nesse terreno o Sul c, ao mesmo tempo, o lameiibível atraso do Norte. As diferenças existentes entre as diversas zonas ficam mais bem esclarecidas se dis tribuímos das segundo classes de alfabetização:
Número de localidades
Norte Leste Centre Sul i ^
30,0
a 39,9
48 Dicksto Econômico
Kntre os dados demográficos u|nirados merecem aqui uni interesse espccal os referentes às pessoas eco* nòmicaincntc ativas e às alfabetitaEis as respectivas percenta gens (a dos alfabetizados rcfere-se às pessoas de 7 anos e mais): %
tomara-se desnecessário num levan¬ tamento que não visava a medir o péso do fator trabalho na atividade industrial, mas que pretendia ficar o padrão de vida do operário.
na ao
40,0
49,9 50,0 a 59,9 60,0 a 69,9 70,0 a 79,9 80,0 a 89,9 90,0 a 99,9 Total 1 4 5 2 4 1 2 5 1 5 7 11 1 3 rv t 1 7 2 4 4 19 27 16 1^; f
% do.s alfabetizados s/ o total de £oas de 7 e mais anos pes-
20,0 a 29,9
a
mo se distribuem nas diversas re-
O questionário usado pedia uinu tias cHiacteristicas básicas, vendo co-j ft descrição minuciosa dn habitação das faniilins investigadas. Detemo-nos no material de construção com uma gioes os principais tipos:

{ Incl. casas tie outro material de somenos'valor.
A forte* participação das casas do UegtOes madeira no Sul entende-se facilmen te por ser esta a região mais rica em madeiras para construção. Quan- Norte to a êsse material, não se poderá Leste dizer, em face das condições de cli- Sul ma, que constitua, sem mais nada, Centro um tipo inferior. Tem até a vanta gem de refrescar mais depressa do que a construção do tijolos. A casa de taipa, porém, é som dúvida abso lutamente insatisfatória, principalmonte tiuando o soalho é apenas de terra batida, como costuma ser. certo que a- casa nos trópicos não tem todas as funções que lhe cabem em clima temperado ou frio, como, por exemplo, a de agasalhar o habitante contra o frio, constituindo antes, aqui, um abrigo contra calor e lu minosidade excessivos. Sob o ponto de vista da higiene, contudo, será sempre habitação condenável, e não haverá exagero em considerar sua freqüencia como índice de miséria. Êsse índice, no caso vertente, fala bem claro se transformarmos em per centagens os números absolutos da última coluna do quadro acima:
su É ra vista se No seis: Rio d
% das casas de taipn S/ o total das habitaçõe?
69,6
31,4
8,6
41,1
rpresa experimentamos ' confrontando a frequência das casas de taipa nas cidades grandes e nas praças menores, pois verifica-se jus tamente o contrário do que à primei-
i e Janeiro, Niterói, São
Pi* ^ EcosAsnco M9 a!
I
Habitações r Total De De Uegiõcs De Alvenaria Madeira Taipa (●) 48ti 310 20 816 742 Norte Leste Sul Centro 55 233 454 569 125 767 1 461 17 68 .d 78 163 A'
TV
Corta
t
i
poderia supor. Na re gião Norte a pesquisa abrangia cin-i CO cidades com quase 100.000 habi-’' tantes ou mais, a saber: Belém, For taleza, Natal, Recife e Maceió. No Leste há duas: Salvador e Belo Hori zonte. Sul foram pesquisadas :Jii‘táÍAÉkÍÉÊ^ÍÊÈàM±-±.. vJ ^ V k» m
l'aulo, Suiilus, Ouritiba c Pórlo Aleg^re.
Confrontamos a seguir as percen tagens encontradas nessas praças
ííramleh cum a« verificadas nas caiidude» du interior:
% das casas dc taipa súbrc o tutul das habitações
A surpresa désse confronto ^ rnaior para (juein, acostumado a conI siderar os grandes carinho, vendo-lhes de
sera centros com certo preferência os
aspectos imponentes, a grandeza do tudo que se possa exprimi* em alga,, ® número de habitantes, ‘I altura dos edifícios, a largura das Piuas, o valor da produção industrial e das vendas comerciais te das arrecadações etc. ta ao
nsmos o montanctc. —, gosmesmo tempo dc fechar olhos perante os morros e as favelas. U fenomeno estranho tabela deixa
os que a pequena entrever deve-se com grande parte, ao fato de certeza, em que a indústria das construções não
Regiões Agua encamidu Luz elé trica
(Total das
acompanhou o crescimento das cida des grandes, vertiginoso em alguns casos, ou j)referiu dedicar-se a cons truções mais rendosas do que casas populares. Sobrevêm que no Nor te ü Leste a moradia em casa de tai pa é por assim dizer tradicional purn as classes desfavorecidas.
Lc outro lado, constitui indice do bem-estar a existência de certas ins talações, tais como água cncanada, luz elétrica e esgoto, e de utilidades como aparelhos rádio-rcceptores e máquinas de costura. A di.stribuiÇão percentual dessas instalações o utilidades, dentro de cada região, oferece o seguinte confronto.
habitaçõe.s de cada região = 100,0)
Êsses dados completam
e apro-. fundam o retrato esboçado pelas ta belas anteriores. Em tôdas as séries, o Sul ocupa lugar privilegiado, quanto que o Norte fica longe atrás de tôdas as regiões.
en-
O questionário dedicou um capí tulo grande e especial às finanças das famílias. Dessa parte da pes quisa transcrevemos, em primeiro lugar, 0 total dos recursos e os ren dimentos do chefe da família, estes últimos provenientes do trabalho:

Dicesto Eco>íómico ^ Io. I 50 V.
Kegiões Em tôdns as localidades Nas cidades grandes Nas localidades menores Norte Leste Sul (»U,Ü ●14,5 14,U 5U.G yi,4 55,ü 29,1 8,Ü 4,ü
Esgoto Máquinas dc Rádio-re-
costurar
ceptores
Norte Leste Sul Centro 7,2 20,8 2,0 13,7 5,6 32,5 58,1 20,9 28,4 29,9 54,2 82,6 31,1 48,4 61,0 18,4 40,6 11,1 r / 20,2 28,8
1 L'
Movamonto o Sul aelia-sc na van guarda. Mas tanto o total dos i*ecursos ciuíinto o salário do chefe da faniflin são bem mais elevados no Centro do que no Leste, ao qual seprue, a distancia prrnndc, o Norte. O trabalho do chefe da família con corro para a renda total da mesma com porcontafíem que oscila entre
69% (no Sul) e 77% (no Leste).
Cumpre lembrar que os dados aci ma arrolados representam médias re gionais. Delas se afastam bastante as locais. Seguem-se, à guisa de exemplo, algumas localidades cm qiie n renda média observada acusa um nível especialmente alto ou baixo, considerado dentro da mesma região:
Rendas haixns (Cr.$)
Regiõe.s (Cr.S)
( G94,C4 (Juazeiro do Norte) 1 619,09 (Belém)

Rendas altas (
( 726,22 (Natal)
1 359,70 (Recife)
( 780,40 (Alagoinhas) 2 223,90 (Colatina
Norte , no Espíri to Santo)
Le.stc Sul
Centro
( 925,60 (Acosita, em Minas 1 792,62 (Itajubá, em Minas Gerais)
( Gerais)
(1 383,83 (Ponta Grossa)
(1 385,96 (Taubaté)
(1 254,30 (Anápolis)
Vô-.so jíor esses exemplos que são bastante acentuadas as diferenças dc i'enda dentT*o das mesmas regiões. Muito Gniboi*a figurem entre as cita das localidades, com rendas maiores,
8 787,60 (Pôrto Alegre)
3 362,90 (Santos)
2 426,20 (Campo Grande)
três Capitais de Estado — Belém. Recife e Pôrto Alegre que a renda média, nas grandes ci dades, só no Sul é sensivelmente mais elevada do que nas localidades me nores.
dos
verifica-se
Dicksto Kconómk:o 51 Refriões Total dos recursos Vencimentos provenientes do trabalho do chefe da família )
por família em Cr$) Morto IjCStO Sul Centro 1 050,10 1 426,43 2 424,60 1 728,24 758,02 1 008,22
673,17
272,20
(Médias
1
1
Média
Nas localida des menores .Regiões Nas cidades grandes Leste S,nl Norte 1 457,10 2 962,80 I 133,62 1 421,10 2 086,18 1 017,44
do total
recursos por família (Cr.$)
Como dissemos, a diferença é grande só no Sul, pequena no Norte e insignificante no Leste, Atribuí mos o fato ã maior escassez de mãode-obra no interior do Norte e do Les-
l te.
Como acontece em todos os levan tamentos congêneres, foram encontra-
das muitas famílias com déficit. Além dos fatores que em toda parte moti-
vam tal resultado contábil (certos k exageros na declaração das despe sas e esquecimento ou sonegação na das receitas), houve

. em nosso caso, ainda, o reflexo do regime da infla-
Regiões
Em relação ao total dos . recursos, conjunto desses três principais itens da despesa reclama no Norte 78,8%, no Leste 77,8%, no Centro 76,1% e no Sul 73,8%. A despesa com alimentação representa, em relação ao mencionado total, no NorI te 56,1%, no Leste 52,7%, no Centro Êstes alga-
48,7% e no Sul 46,3%. 3^ nesse a
rismos permitem só uma visão par cial das diferenças existentes teiTeno e estão longe de revelar gravidade do problema da alimentação, sabido como é que a mesma não constitui dieta uniforme ou equiva’ lente em todas as partes do Brasil, jí, Há quem a considere inadequada, ● mesmo no Sul; nas demais regiões, i, então, é tida por muitos nutrólogos como absolutamente deficiente, em
ção, cujos efeitos imediatos pesam mais (luramcntc aôbrc as classes dos empregados e operários, pois os sa lários muitas vúzos rulo acompanham a elevação dos preços. De resto, al guns levantamentos <lo controle, fei tos em arnuizéns com freguesia principalmento operária, deram o resul tado de que nessas casas vinha cres cendo, já desde antes dos tempos da pesquisa, o número e volume do con tas em atraso.
As dospe.sas principais das famí lias investigadas apresentam os se guintes montantes (média mensal por família):
qualidade e mesmo em quantidade. Ora, essa alimentação insuficiente e condenável devora, na maior parte do país, mais do que a metade do total dos recur.sos duma família ope- . rária!
Esclarecimentos minuciosos pode- ^ rão ser obtidos pelas informações das cadernetas, que especificam e pormenorizam todas as despesas, in dicando, além do gasto, as respecti vas quantidades consumidas. A im portância da questão reclama pres sa na apresentação desses dados, aos quais cabe ainda, num terreno com pletamente outro, uma significação extraordinária. É que poderão for necer uma contribuição valiosa para a questão do difei-enle valor aquiai- \
Dicksto FroNÓknco 52
> _V
i
,■
>
'●V
V Alimentação Habitação Vestuário (CRUZEIROS) Norte Leste 587,96 767,98 1 123.41 841,47 84,69 124,87 240,22 148,21 153,00 233,22 427,71 324,46 Sul Centro 1
■’
0
3. ti
tivo da moeda, nas diversas regàõcs do Bmail.
Finalmontf, esses elementos per mitirão estabelecer ]>adrôcs de con¬
sumo regionais c locais, que formam 3 bases indispensáveis para índices do ^ custo da vida. 0 interesse nisso é » tâo jrrande quâo patente.

i. 5:^
Dicíwto Econômico
;> I X' \ 'V. V. 1 ' Ll*.. A. w. ViV^ f *c A .A ●
y
MISTÉRIO DO CONTINENTE NEGRO

J. P. GalvÁo i)K Sousa
Quando oUio para o mapa da África, 6 sem certa emoçTio que o fa^-o.
Lembro-me dos tempos de menino, vcjo-nie de novo nos bancos do Ginásio^ <le São Bento e, diante de mini, o «m-
imenso, Riscava os
na.
iiio-ia dado contemplar aspectos da turez;i semellianlcs à paisagom camari nanão
um
do Niger, do Congo c do Zumbeze, perfilava Madaga.scur e sentia-me, como o “herói de quinze anos” de Jú lio Verno, cercado de feras temíveis c acolhido pelos simpáticos nalmente remontava à epopéia lusa das navegações e seguia o itinerário de Vas co da Gama. r
A raça sofredora de Cam, reprovada por Noó, traz desde a origem o misté rio que a vem acompanhando através dos séculos. O mapa da África, de um perfil tão nitidamente caracteriza do, surge-nos como símbolo de uma gente cujo caráter é inconfundível, de Itoincns marcados pelo ferrete da escra vidão, dc uma raça cujo viver se tem desenrolado sob o signo da dor.
pa-
● a
recia envolver o continente da raça so fredora que ajudou a formar o Brasil. E uma atração, que não áei explicar, fas cinava-me o espírito juvenil, Ainda estudante, a primeira terra estrangeira onde eu descia era uma da quelas ilJias cujo conhecimento ao aprender a geografia da África. Sal tando na capital das Canárias, escala imprevista e forçada do Cap Polônio, comecei a perceber então, nas ruas e praças de Las Palmas, e nas montanhas áridas da ilha, predestinação histórica da Espanha, derivada da sua posição geográfica entre a Europa e a África. Mais tarde, em pleno solo ibérico, ser-
me viera
; T
Pisei pela primeirrí vez território do <()ntinent(! africano, ao ajxnir do C’omicl/aíion da Pan.iir (jtic atcrrissa\’a crTi Dacar. K (jiiantas vèzes lenho por lá tornado a passar, sempre me tem causado impressão o olltar parado e misterioso daqueles pretos reluzentes, trocando moedas ou vendendo perfu mes fnmccscs. i'
me
doso professor de Cartografia, I). Fran cisco do Assis Empting. Naquele ano dc 1926, logo ao sc iniciarem as aulas, começávamos o estudo dessa disciplina desenhando os contornos do maciço africano. Era o primeiro mapa que cabia traçar, e eu o delineava com a imaginação voltada para o deserto as lendárias pirâmides, as flo restas impenetráveis, o soberbo Vitoria Nianza e o dadivoso Nilo.
Essa África fascinadora, por vèzes obscura como as suas florestas, por vêzes irradiante de luz mas implacável c ardente como o deserto, não tem o esplendor das mil c uma noites asiáticas c não conhece as Imrmonias do Medi terrâneo europeu. O sol que ai dar deja mais forte caldcia corpos vigoro sos e temperamentos flamejantes. Vin dos nos porões dos navios negreiros, trouxeram eles inaprcciável contribui ção, étnica e sentimental, à sociedade brasileira, deixando-nos para sempre vinculados ao continente ontem separa do dc nós pelas águas do oceano, ho- ^ bem próximo c integrado conosco na ^ Comunidade do Atlântico, por impera tivos da história e da geopolítica, da
cursos nativos. FiUm ar de mistério ~ ■
militar r ilas ctummiuu.vH.s acrens.
Já pensamos no cpic significa a Áfri ca para o mundo th* hoje. no que jx>dcrá sígiiific.ir amauiiã?
E’ cin climcusõi-s contínt-ntais que de vemos atentar aos angusllo.^os problemas cuja solm,ã<> os povos procuram hoje afanosamente.
1% isso nos laz eoniprocndcr a tese de Anton Zisthka. afirmando estar na África o mais iiniiorlantc pn)blema da coletividade européia.
Em sua colaboração para o “Digesto Econômico”, o ilustre jurista c; professor bo liviano Julio Oroza Daza fazia ver o interésse, para os povos his pano-americanos, nas re lações enlrt; a Europa c a África. Ganha cor po dia a dia o pcn.samento dc tima autar quia econômica ciirafricana, e alguns países do Velho Mundo já cuidam dc assegurar abastecimento o seu
através do.s entrepostos coloniais do continen te negro. E* bem de ver as conseqüôncias que poderão resultar daí, afetando a balan ça comercial das nações do nosso conti nente.

à primeira vista pode parecer que a África está para a Europa como a Ásia para n Rússia ou a América liispAnica para os Estados Unidos. A Eurásia, sob dominação soviética, o bloco pan-americano sob o signo monroísla e finalmente a Eiiráfrica representariam as grandes divisões econômicas, se não
sia
uM^siiiu ^x>liticas, do inuudo tio luuaiiliã- ^ Unia tal intoqirclaçyo das lendòncias '■ atuais das relações entre os^^iovos tem fl certo fundamento. Os dois “grandes’, por excelência, no momento presente da humanidade — Estados Unidos e Rú>são os impérios avassaladores diante dos quais se apaga o esplendor do império britiuiico, em sensível de clínio. A ésses dois no\‘os impérios oom*sponderia o controle da Ásia pela ^ U.R.S.S. e das Américas pela repii- * hlitti norte-americana. O bloi-XJ eur.t-
fricano fic-aria entre ambos, como um com n amortecedor, particularidade ‘ favorá vel, para tal fim, de não representar a pansão de nenhum ini- ‘ g perialismo. *
ex-
Essa risão antecipa- ’ S da desde logo nos mos- j tra a importância do ^ continente africano im dcísíècho do grande conflito latente no mun do de boje. E o ter reno neutro, seria o campo da batallia final, pelo menos da batalíu econômica. Pelas suas
possibibdades imensas, ^ pelos recursos valiosís- ^ simos que encerra, África poderia ou pode rá ser, mais imia -vez, a chave do con flito.
a
uma vez, porque cumpre não esquecer que a segunda guerra mun- j dial teve a sua decisão nas areias africanas. Nessa ocasião muitos começaram a compreender o papel da .África, sua posição de pôsto-chave no conflito cntre o Oriente e o Ocidente. Mas daí decorre uma outra conse- .W
Digo
Di<»íjrrc) l£c:í)NÓXfíí'(» j
1 If
7)ujií
Â
i^üòiiciu. Sendo Estados Unidos c C.R.S.S. as grandes forças da atual eonüngc-iiciii histórica, e não sr; acliaíido a Europa em condições d«: rc-si.stii a um avanço russo, passa a Afrii valer por si mesma, deixando de uma expressão política cujo sentido está em constituir espccialineulc, no di/cr ch; Anlon Zischka, a “reserva Geogràficanicntc;, nínsula da Asiu.
venha a Eunisia.
.1 a sei da Europa”.
Europa é uma pePuder acontecer a cpie ser politicamente absc>rvidit [>e!a Neste easo
diçõi ■*, para muitos surprecndentenuiitc fa\nráveis, «tu »pie Kr.mco se conse» guiu colocar.
p.igih .s mnito hem pensadas do “.\lrica, reser\a do
sovicimencom a sua situação gcográfic.i e us
, a resistência a uni domínio do inundo pela Eurásia tízada só pode rá estar no aproveil; to da colossal base africana, privilegiada seus recursos inesgotáveis.
Península da Asia, a Europa cl tom a -^rica. Isto se torna patente na península iljériea, pda topografia, qualidade do terreno, o clima de algu mas de suas regiões meridionais (Ali
nem por isso dei- xa a lar- \'C
c Andaluzia), certos produtos Donde o dito dos fr; e nainccses: turais.
a África n começa nos Piruieus”.
Em face do.s processos da guerra dema, a cadeia dos Pirencus perdeu a sua importância _tão granclo de outroMas a função da península ibéri , ' ca, dada.s as dimensões continentais da z política internacional dc. hoj 5., de vulto. Tornou
-se a com o seu para cá
Vêm daí os acordos militares dos Es tados Unidos com a Espanha, e as con-
\i.^ta de liemlaia, em <pie tcailou quein.ir espaiiliola. iitr.ilidade w l’\)i a 23 dl outubro do iüdü. Nove ,noras d<‘ c-onversaç-ão, ein seguida ás o Ftidmr deixava o earro-salâo, em cpie se avisl.ira com Pr.ineo. recoIhemlo-M- ( nervado ao vagão oficial, cm iniprojjcTios contia o alorlmiaclo chefe ele l-lstado cs])aiiIiol. Depois ia di7/.'r a Miissoliiii, em l■'lorl in.-.i, quc' proferia extrair iís ijiialros molares a ter outra vez lima entrevista como aqnela.

Em NIUI.S “Memórias” escreveu Chureliill: “O pciiluiseo de (ubraltar estava em concliçTxvs dc fazer frente a um assédio prolongado, porém nostcí casx> não teria outro valor senão o do mn p<-‘iihasco. A Espanha linha em suas mãos a chave ele c(iial(pier emprôsii bri tânica no Mediterrâneo; nunca, nem nas horas mais turvas, nos fcclmu u porta. Mas o piTigo <Ta lão grande, quo dnnmte quase dois anos Uvcmo.s prepa rada nma expedição dc mais de 5.000 homens c dc navios dc guerra corres pondentes para, cm ciiso de m^cessidadu, jvoclor ocupar cm questão dc pou cos dias as ilhas Canárias, donde po deriamos comliater, pedos ares c pnr mar, o.s submarinos inimigos e garantir no mesmo tempo a rota para a Austrálhf ao redor do Cabo, se viessem os espanhóis
if.
r UiresTO 56 íí
Ji'i na scgtiiul.i guerra mundial, a neuIr.ilíd.ule espanhola, permitindo aos an* elo aiiiern .inos a iitili/.içáo da África, loi um t Ir ineiittJ decisivo pira a vitória dos alía(i(.s. Nas SI II ensaio sidin a Kiiuipa” ÍAfrikn, Kuwjhis Gemdasc/icj/iMittffftihc), Ziselika ims r< corda o inotm iito dramátic-o cie llitler, na entreti I b ● I
I -quais ’
formar urna unidade
mora. e, cresceu Espanha o tram polim da África e da Europa, o ponto de interseção entre ôsses dois mundos, o africano e o eurasiático. Portugub império, completa esta fun ção. Diante du perspectiva sombria dc nma absorção da Europa pela Rússia, a única Euráfrica viável em dcfe.sa do mundo livre seria constituída dos Pireneus. i. í '
1 A
iins impedir o tjso do pArlo do Gi* brallar.
*'0 uovòrno I'r.mco nos podería ter desferido òsto "olpc nniquilador dr iim modo iniiifo simjii<'s. bastaria permitir a lisTo pa.s^.e.vm das tropas alemãs pt'la p nínsula. facnltamlo-lhes cercar o confpiislar a fortaUv-r do Gibraltar, inqimnto trala^-sc <1«‘ íicnjiar Marrocos c a África do Norte francesa. Esta possi!)ilidadc (*ncli<‘u-nos de sérias prooc\jpac.õí‘s, depois de firmado o armistício fr.in<'t's, rpiatulo os alemães clu'gmram, em 27 de jiinlio de 1910, à fronteira espanhola...”
● Em .sot> datpiolc matio afirniasa: podo rtuimiciar .subsi.stindo graças perder a
Por outro l.ulo. em \irtudc da vincul.iç«o dia a dia mais acentuada entre os po\’os que formam a Comunidade Lu síada (haja \ista o reconte Tratado de Amiziidc e Consulta), poderá o nosso país ser no futuro um elemento de inte gração da Eunxfrica no bloco do Atlân tico,

ator-
númoro tio 27 dt' dezembro mesmo ano. o \í('ssn^cro HnImpério britânico à Europa e contímiar ã África. P<iróm, se África, stTá o fim”.
Quer se encaminhe a política mun dial para a constituição de uma ceim força” entre América c EunWa soviética, baseada na unidade curafricana, quer a dirisão Oriente-Ocidente pro■vnloça e abranja a Europa, o papi'1 rcscr\’ado, no dia de amanhã, ao con tinente negro é, pois, dos mais rele vantes.
<1
A maredia para o .sul é um impe¬ ças, rativo goo2)olílíco do que a Europa não pode fugir.
Sabemos também o tpic representou o Brasil cm face; da unidado cinafricana, na iiltima guerra luunclial. país das Amcrica.s mai.s próximo do conlincnte qno os portugueses pela primei ra vez circimavcgaram, o Brasil ocupa também uma po.sição-ebavc, patentea da pedo tráfego aéreo entre Natal e a costa africana no deiTadciro conflito.
Se o Meditemiueo já foi chamado o “mar das decisões”, a África é bem o ''continente elas decisões”. Excedendo do muito a todas as outras partes do mundo na capacidade de potencial hi drelétrico, dotada do recursos quase se diríam ilimitados para desenvolver a eletromclalurgia, podendo vencer qual quer concorrência na produção do metai.s ligeiros, ela se apresenta também municiada para as grandes transformaÇ-ões acarretadas pela era atômica. A 110 quilômetros ao noroeste de Eli/abetlu illo, os americanos desintegram o átomo, junto ã mina de unuiio mais hnimrtantc do mundo. E uma rède de aeroportos, a se multiplicarem rápida mente, cobre o solo africano, vencendo o deserto.
Já nos tempos de Stanley, conheciam o.s nativos do Congo belga as misterio sas pedras que brilharam no escuro e oram procuradas i>eIos médicos. Mais tarde \'ieram a ser aproveitadas as suas propried.adcs radioativas.
O mistério da África, para os egíp cios, foi sobretudo o mistério das ca-
Dkíf^o Econômico 57
1
E’ corto qm' a Asia c a América rcprosontam .somprt' para a Europa fontes do aba.stooimcuito o mcroudns consvimiclorcs. Mas as inctutozas do futuro impolom natoralmonto os ^xhos europeus a uma inttn-dopcndòncia maior com a África, facilitada pela g('Ografia. Em torno do M<'dilorrunco, o bòrçt) da ci vilização ocidental, tinotu-sc estos dois contincnilcs. vcukIo ele um lado c de outro o bloco ela Eurásia e das AmériO 5
Sendo o
nos mares traiçoeiros nossos ancestrais. raç-a.
K rm faco da crise política c oconó* i inic.i dos nossos dias, o iníslério africa no põe-se dianl<’ da Imin.midadc turbada como amanhã, a fòr decifrada, poderá tr.izer a salvação. I K f l 1 i {■ V l o. ! ■ r' 't * <

n. 'S 58 DiCKívTO Kconókuco r:
bccdras do Nilo. Orpojs, jwr.i n ’lmmcm culto <la Kiiropct, passou a estar no deserto, na s<*Ka, nos rios «■ lai»os, (Icvassatlo.s pelos l●oi tainbéni s«-inpr<‘ <● continua a ser o iiii.sU'rio da r
cona grande incógnita de esfinge devoradora, (juc, sc
ENSAIO SÔBRE A ATUAL SITUAÇAO POLÍTICA DO BRASIL
Mauuo Bhandâü Lüi»ES
(l*roírsí>i)r tlr PulilltM da Escola dc Sociologia e Política de Sàü l\uh)

f momento nenhum da história brasileira foi tão ampla hoje a liberdade de oposição e de crí tica; em momento nenhum da his tória brasileira foi menos construti va a oposição e menos lúcida a críti-
ca.
como
Ora, govêrno e oposição estão indissolüvelmente Hg^ndos no mundo de mocrático; funcionam juntos ou não funcionam absolutamenate.' A ação governamental firme e coerente, além de depender da qualidade do homem político, depende também, não só de um programa cluramente defi nido, mas de oposição construtiva. Es tas são as duas condições políticas de um Estado democrático. Nenhum governo continua por muito tempo democrático, sem oposição; êle se transforma necessàriamonto em go verno absoluto, e êste é, nas pala vras de John Locke, comparável a um estado de guerra, porque lhe falta o elemento indispensável do consenti mento. De outro lado, o govêmo que, sem apoio na maioria do eleito rado, firmemente organizada num único partido político, vacila, determi nado em cada momento pelas pressões desencontradas e desarmônicas de oposições fragmentadas, é governo só no nome; falho de programa de finido, é incapaz da lidei’ança social o política, que faz dele um governo. Sem governo firme não há oposição construtiva, e sem oposição constru tiva não há governo democrático.
Essas duas condições essenciais de
um Estado democrático, governo íiríne e oposição construtiva, não exis tem atualmente no Brasil: é confuso e contraditório o pi'ograma político de nosso atual governo; é niá, incoe rente, e vacilante a oposição que lhe é feita. Como consequência, nenhum dos inúmeros problemas sociais e po líticos, que no Brasil dependem de ação pública, tem tido solução satis fatória.
leira
Esta é a crise institucional brasique os otimistas, usando de analogia ingênua, caracterizam como crise de crescimento; o exemplo da França, que se debate no mesmo ma rasmo, mostra claramente, entretan to, que um tal desenvolvimento pode vir a ser definitivo, e que, uma vez cristalizado, é aparentemente irre mediável.
A causa real desta crise institucio nal é a incompreensão brasileira da real natureza do processo político de mocrático e de seu fim, e a conseqüente adoção de formas políticas inadequadas.
O fim do processo político demo crático é, não a simples representa ção do opiniões numa assembléia, mas 0 controle do governo pelo eleitorado. As assembléias representativas são, assim, na realidade, simples meios para a consecução do fim visado 0 controle do govêrno, a sua sujeição à vontade e ao interesse dos governa dos, manifestada através do eleito rado.
Ora, experiência política do a
. _1 /
mundo ocidental mostra clarumcntc que êssc controle do govérno só é possível num sistema bipartidário, e virtualmente impossível num siste ma niultipartidário.
No sistema eleitoral de repre.-i
ntaçãu proporcional ba uma forte -.endencia para a multiplicidade de tidos políticos, com a necessidade de
consoqüente dcsÜusuo do clcitoradoV com todo o j)roce.sso político. ^
um processo como
parconseqücntc uma cealizãü jjiirlamentar apoio do executivo; e a coalizão, além de enfraquecer partidos, torna impossível de qualquer dos programas êles se apresentaram
ü.s a e.xecuçao com que ao eleitorado.
Os programas, nunca executados, dem o seu sentido, ’ perc as eleições Ü interésse, decorrendo daí um seu a y
ü processo político democrático de- j ve ser es. cncialmcMite de discii>.Kâo, cujo valor está justamenti* na rolahoi-.ição de todos nota Krn*-.st ÍJarIa'r. num livro extraordinaiio, Iteflections on (íovcrnmciit, A discu jiartidário, se d(*vo estabelecer, : ÓMicuite <lenlro de cada partido, mas entre os partid-s políticos, resultaiid<> na formulação de programas, is to é. na formulação das questões de interêrse geral .soluções partidárias, ●são então api^.sontados

que se inicia no nível lO, nuo
rado que, sob a direção dos partidos, decide, nos sistemas bipartidários, por um ou outro ])rogrania, atribuindo ao j)artiflo político majoritário o pap.el de governante e ao outro o paj)cl de oposição. No parlamento, cujo papel principal é então o de toma dor de contas do governo, a discussão prossegue, entre governo e oposição, sôbre a correta maneira de traduzir em ação política o programa pai-tidávio escolhido. Passan do, afinal, ao executivo, a discussão é levada pelo par tido político no poder à sua conclusão lógica, a realiza ção do programa vencedor.
0 na proposição de Os prognmias no eleitof
Êsse processo político de discussão, que vai da deter- ^ minação das questões gerais ^ dc uma sociedade e de so- x Inções partidárias .específi- J cas até a realização final f
Diceíto E' 60
\
í
A ●-N Á I' ●. , '< I y ■ -/. 'tf. ●*
f
ii.i .soluções eseolhiúus, depende fundamcntalmente do sistema eleitoral uniniMuinal, que, com de oseiutínií»
o .sistema
vel um «■ovèi no imipartidúrio (isto é, um único partido), constituído por a realização <Ío .‘=eu programa parti dário, ó controle do govêrno, atravé.s de uma opo.sição construtiva.
ponderanto: primeiro, constituindo uma fase, por si só, como já dito — formulando programas e proponbipartidãrio, torna possí- do candidatos; segundo, dirigindo o eleitorado, na fase seguinte, sem doniimi-lo; terceiro, constituindo os dois lados do processo de discussão, no
V. portanto cm última análise, parlamento, o governo e a oposição; quarto, constituindo o executivo, e, não só 0 executivo, mas Uimbém o executivo potencial alternativo, soncial à discussão, na última fase.
í) parlamento, e
—
O jjerigo, ijortanto, para todo o processo, está na interferência de (lualqucr cios órgãos na esfera dos outros. Êsse perigo é real. Na Rús sia soviética, o partido político se constitui em órgão do próprio Estado, toi-na-sc um Estado dentro de um Es tado, e aniquila os outros partidos, tornando-se o único. Na França, o parlamento interrompe o processo de discussão, impedindo que êle passe à sua fase final, que é o seu alvo. Na Alemanha hitleiústa, na Itália fascis ta, e no Estado Novo brasileiro, o executivo se arrogava as funções de todos os outros órgãos do processo político, desde a pesquisa inicial das questões sociais até a realização de um programa imposto à nação.

es0
Kote-se, ainda, a íntima conexão que deve existir entre o parlamento e o executivo, no mesmo processo. 0 parlamento legisla e instrui o exe cutivo, mas (e esta é a tendência nas trrandes democracias ocidentais) executivo dirige o trabalho legislati vo, propondo leis e assegurando a sua passagem. Daí a necessidade im periosa de íntima colaboração exis tente, por exemplo, no parlamenta rismo inglês. iVs decisões do executi vo, nesse processo de discussão, são necessãriamente coletivas. São coleti vas em dois sentidos: porque são o resultado de discussão de um grupo, o gabinete, tanto no sistema parla- ^ mentar como no sistema presidencia lista (exceto nos governos de coali- ^ zão, como o brasileiro); porque executivo se defronta continuaniente, nos sistemas bipartidários, com executivo alternativo, e a crítica sem pre viva influi poderosamente suas decisões.
tido político, não somente se deseh- 1 volve numa sério de círculos concên- i tricôs — partido, eleitorado, parlamento, executivo; êle se desenvolve < também num âmbito muito mais vas to, desenvolve-se entre os partidos sucessivamente no poder. A alterna-
, i. (*1 I ÍM.Í ». J. » ■V
O processo todo, dirigido pelo pav- r' i;
() proces.-^o tem quatro fases su cessivas e (piatro agentes ou órgãos partido nt)litico, o eleitorado, o o executivo; mas o proces.so é um todo. o é, ao mesmo tempo. hoim»gêufo c heterogêneo. Ho mogêneo. poi’(iue cada uma das fases e cada um dos órgãos é essencial ao todo; o fracasso de tiualquer dèsscs órgão.s envolve a nulidade de todo o proee.sso. líeterogOneo, porque ca da órgão tem a sua função específi ca, (juG completa as funções dos ou tros órgãos.
t p 'I i .*
Nesá^processo político democráti co, o partido político tem o papel pre-
.
ção do.s partido.'» no pudor constitui um outro processo dc discussão, <}uo envolve, por assim dizer, o proce.s«o de discussão especifico que coloca cada um déles na direção suprema do FIstado; não somente envolve, influi também decisivamente cesso especifico.
mas no pjoem relação
A alternação dos partidos político.s no poder tíarante os direitos civis do.^: cidadãos, pois impede a tirania de uni só partido; além disso, e principal mente, define a posição dos próprios partidos, não outro, mas sepundo sidadc.s
üidunciuiihtu, fornia.s t}uc su baseiam (liretamentf no sislc>ma eleitoral de escrutínio uninominnl.
Xo 13rasil, os fc^overnos são todos vacilantes, sem iirotframas definidos (jã que as plataformas eleitorais têm (juase exclusiva função demagógico) <● nunca totalmente constitucionais (já (jue uma larga parte dc sua ati vidade extravasa os seus limites le gais); as opüsiçõcs, fragmentadas e efêmeras existem com o fito quase exclusivo de se incorporarem mais cedo ou mais tarde ao bloeo de par
o, princípios, implícitos cesso democrático de di‘ dois:
so um ao Os no pro, scussão, são ^
tidos governamentais, e a sua críti ca, feita com êsse intuito, é quase sempre insincera c claudicante. Os 0 tra«aino, ja mencionado, ou melhor prmcipio de diferenciação de funçõ e 0 principio de
' as novas necessociais que vão surgind
0 .oes, cooperação e inter
conexao — cada órgão é parte do samTf ’ funcionar harmoniosamente com os dem 0 ais, entre estes dois de dificuldade dô .separação como eles são igualment dificuldade é
equilíbrio princípios é a gi’ansi.stema: tanto a cooperação entre e necessárias. A

c, entretanto, perfeitaniente superável, como foi no parla mentarismo inglês e como está sendo no presidencialismo
a americano.
Êsse processo político, já no mundo ocidental, exemplo na Inglaterra, consecução do alvo primordial dos gimes democráticos — a criação de um governo forte e vigoroso e de uma oposição incisiva e construtiva, conseqüente contrôle do g’ovêrno pe los governados. Êle depende da ado ção de formas políticas perfeitamente consentâneas tanto com o sistema parlamentar como com o sistema pre-
cm operação como por garante a recom o
partidos políticos brasileiros visam, não à consecução do objetivo básico das democracias — a constituição de governos fortes, quando vitoriosos nas urnas, ou, quando vencidos, dc oposiçoes con.strutivas, dedicadas controle do governo, em obediência à sua função dc guardiães do interêsHC público, — mas a representação pura e simples, divorciada do fim le gítimo, de que c meio, e que a justifica, o contrôle do governo.
ao
Os partidos políticos brasileiros, visando simplesmente ao maior numei’o possível de cadeiras parlamentares, cobiçadas pelas vantagens materiais que trazem, apegam-se fcrrenhaiiiente, consciente ou inconscientemente, ao sistema eleitoral do representa ção proporcional, que tem no Brasil duas consequências, eniinentemente desejáveis para os políticos brasi leiros — a multiplicação dos parti dos políticos, só limitada pela exten são do próprio eleitorado, e a repre sentação do maior número possível de les nas assembléias representativas.
r' UlCFJflO
62
f
Ligada a estas duas conseqüên-
ro de eleitores, e estes sempre os mais esclarecidos, do valor do pro cesso eleitoral. As conseqüências dessa descrença sâo de tremenda im portância para o futuro da democra cia brasileira.
cins, Ji necpssidnílo inolutíWel do uma . descrença profunda do prande núniccoalizão provcrnnmcntal, nos sistemas eleitorais de representação proporciomil, conaei’\’a sempre aberta a pos sibilidade dc participação de todo o qiialquci* partido, por mais insiírnificante que soja, nas vantaprens ma teriais do poder.
O corolário inevitável do qualquer coalizão pTOvernamcntal é o enfraque cimento dos partidos políticos, fato êsse particiilarmente notável no Bra sil. Enfraqnccom-se cies, cm primei ro Iiiprar, pola própria adesão ao blo co do Rovêmo, porque essa adesão é inovitàvelmontc dada com sacrifí cio dc princípios partidários ou de compromissos pessoais, ccm-sc também porque, com a coali zão, nenhum programa partidário é cumprido; o proírrama da coalizão, é necossiiriamontc diferente, e radicalmcnte diferente, dos programas dos partidos que participam da coa lizão.
Enfraqiie-
Dada a fraqueza extrema dos par tidos políticos brasileiros, tanto sob o aspecto doutrinário como sob o as pecto de organização, e edm a sua evidente incapacidade para as tare fas políticas, que llies seriam pró prias, assume o executivo as suas funções, interferindo em tôdas fa ses do processo político democrático, inexistente entre nós. Formula êle, assim, os únicos programas parcial mente cumpridos, os programas das coalizões governamentais; dirige êle próprio 0 eleitorado, em quase todos os cantos do Brasil, exceto talvez nos centros urbanos; dita o processo parlamentar, manipulando as oposições existentes
a as
, fragmentadas e dé beis; e governa e administra, no ní vel que lhe é próprio, o nível de exe cução e administração, frequentemen te além de seus limites constitucio nais. Exceto nos seus aspectos for mais, a atual democracia brasileira em muito pouco se diferencia, se aten tamos à realidade profunda do pro cesso político, do Estado Novo getuliano, inaugurado em 1937 e só apa rentemente liquidado cora a vitória aliada na Europa.
Os partidos políticos brasileiros são os joguetes de forças pessoais, num processo político que, em sua essên cia, é profiindamente antidemocráti co, porque acentua a representação, que é meio, com sacrifício total do .. ' — 0 controle do Objetos os partidos políti-

OlOhSTO Econó-níico C3 %
1
O.s partidos políticos brasileiros, com as características apontadas, des leixam inteiramente as suas funções essenciais» sem as quais perdem não somente o seu caráter dc zeladores do interesse piiblico mas passam constituir verdadeiro ônus para o processo político brasileiro. Nenhu ma atenção é dada pelos partidos po líticos, entre nós, à formulação de ■oroíri^amas com base em pesquisa real da situação social brasileira. Os programas não espelham, assim, questões de interesse geral da na ção; focalizam, com intuitos eviden temente demagógicos, pontos super ficiais, que constituem simples palia tivos de males quase totalmente in compreendidos, na sua natureza e nasi alvo democrático suas consequências. Resulta daí uma^í Jgovêrno. í
COS, e não agentes, no processo poH, tico, ínexiste discussão democrática L no Brasil, no sentido indicado por i Barker. A sucessão de coalizões governamentais não produz um depósito de experiência política, como ’ acontece, por exemplo, na Inglaterk ra, onde a própria alternação dos gaL binetes constitui um processo de dis^ cussão, que se sobrepõe ao r processo mais restrito, descrito acíma, movi
do pelos partidos políticos através de quatro fases — partidária, eleitoral, parlamentar e executiva.
A inexistência do processo demo crático de discussão é a explicação concedida no da pequena proteção,
Além de tudo, os grupos político*'»;* demonstram uma surpreendente ten- J (iêneiu para dividir-se em grupos me nores. aglutinarem-sc entre si, sepa rarem-se de novo, numa mobilidade fanUisti<-a, íjue desafia a argúcia e a possibilidade de análise do observa dor isolado.
Assim, não existem, no Rrasil, par tidos polítieos, no mesmo sentido que existem partidos políticos na Ingla terra, nos Domínios britânicos, ou Estados Unidos da América do nos
B
rasil, apesar da carta magna, aos direitos civis do cidadão; e, princi● palmentc, & paralisam. os próprios partidos permanecendo hoje o que
Xorte. Nem ao menos se pode dizer dos nossos partidos políticos o que dis.se ITerman Finor <los partidos po líticos franceses (“The Group Sy.stem in Franco”, in Economica. Jan.
f eram ontem, sem chance de desení ' volvimento interior. *
A força dos partidos políticos bra sileiros, desviada de desenvolvimen, to interior, se transforma em extra^, ordinário poder de divisão. Não é desarrazoado afirmar
se que a verdadeiI.
ra unidade política no Brasil é, não o partido político, mas o grupo polí tico. Mesmo antes de eleito presentante popular por uma legenda partidária, pre'nde-se ele imediata mente a um grupo político de y' completa independência de ■! só nominalmente se filia
o requase ação, e ao seu par
de 1021, pp. 20-27) — que constituem “antes de mais nado massas de idéias, corpos de doutrinas econômicas e so ciais, mais ou menos liarmoniosamente reunidos em todos homogêneos e coerentes”. Entre nós, não têm os partidos políticos unidade dc organi zação, nem unidade de doutrina — a sua incapacidade para a consecução do fim precípiio nas democrácias, o controle do governo, ó de evidência patente e inegável.

Como na França, entretanto, o sis tema de gi'upos brasileiro se ligíi u uma tradição, já firmemente esta- ! belecida, dc individualismo político e de livre discussão e atividade, em prejuízo de disciplina partidária, e ligado a esta tradição está um dos fatos contrais do cenário político bra sileiro — a quase total ausência de grandes líderes nacionais.
l
a
tido político. Êsses grupos políticos freqüentemente reúnem homens de vá rios partidos políticos, que conservam w* a sua filiação partidária; o partido poy,' lítico perde, assim, tôda a sua signifr* ficação — a unidade política ê o gru&; po político, que êle próprio foge tôda e qualquer regulamentação tenf' do por objeto os partidos políticos.
O sistema de grupos, no Brasil co- ^
mo na França, implica numa formade governo, que se convencionou de- .7 noininar de “governo do assembléia”, * 0 que, embora profiindamente "1'^““
■yr». ' Dínv.STO EroNO^iVi C4
I I
f.
*í*
./.'k <.-1 >1
sa leira.
ca a
subsidiária peculiarmente brasi- impede a consecução do real alvo democrático — o contrô]e do ETOvêmo. Tsso no nível parla mentar. >70 nível do executivo, os secretariados, nos Kstados e municfpio.s e os ministérios, no âmbito na cional, são formados por neprociaçâo, g a cada um pertencem forçosamonte elementos do partidos diversos, nuntotalmcnte conprruentes nos seus princípios o na sua ação, c freqücntemente hostis uns aos outros. Aqui cxpli'‘nção imediata da fraqueza dos executivos brasileiros, da incoe rência do seus 7-)ro£rramas de ação e da sua instabilidade ministerial e secretarial.
Estas três características dos exe cutivos brasileiros determinam forçosamente consequências importantes, na atitude do eleitorado brasileiro; e o eleitorado, cm todos países, é o elemento primordial do processo po lítico o que Ibe dá o sou caráter cen tral. A mais importante dessas con sequências ô a falta de confiança nos jrovemos, porque nenhuma real con fiança eleitoral é possível ter cm pro vemos que não representam um cor po definido do idéias e que não so apoiam num proprrama de ação coe rente e definido.
E.sta, em linhas prerais, a meu ver, a crise institucional brasileira, que está na base da presente conjuntura política. A ela se prendem, em sua írrande parte, as dificuldades políti cas <Io Brasil. A esta crise institucio nal se aliam, todavia, duas outras, que poderiamos chamar de crise ideolóprica e de crise de liderança.

Essas duas crises estão indissolüvelmente lipradas, mas não só para efeito de análise distingo-as aqui; a crise de liderança entre nós tem cau¬
que se distin« massa nutôda
65 piCESTO l-3cON’ô>nCO
0 Brasil, embora com prande atra so, participa de um fenômeno mun dial, cuja melhor descrição e análise foi feita por Ortega y Gasset, num dos livros básicos de nossa época. A Rebelião das Massas. Não me preo cupo neste trabalho em discutir a va lidade de sua descrição e análise, nem quero adotar no momento as pressu posições filosóficas e os motivos emo cionais do írrande filósofo espanhol. Noto 0 fenômeno mundial, que é do evidência indiscutível, e tento mos trar as características que êle tem neste instante entre nós, sob o seu aspecto político, fi fato manifesto que as nações ocidenteis eram politicamente lidera das por “minorias pniiam por idéias, ou ideais, ou dese jos sociais, que as punham à parte do todo, punhnra-nas à parte do que, posteriormente, se denominou de ; e todos os conflitos políti cos eram conflitos entre minorias, que produziam a liderança política ativa em cada nação. Ora, tendo sua ori gem remota nas idéias da Revolu ção de 1789. processou-se gradualniente no mundo moderno uma toma da do poder pela “massa”, isto é, para usar só excepcionalmente a des crição de Ortega, pelo grande mero dos que se sentiam como a gente e nenhuma excelência afirma vam sobre quaisquer outros, conten tes em viver de momento para mo mento como semnre viveram, exceto quanto ao conforto material, massa” não se confunde com o pro letariado, poraue, como nf'ta tam bém Ortega, dentro das classes pro letárias sempre surgiram genuínas Esta a
r ● i'.
minorias, com todas as característi cas dc quaisquer outras minorias, mesmo as essencíalmente intelectuais.

massa, uma cconómianaI a meu nu Ino nalguns Domínios b
Esta tomada do poder pela sob o .seu aspecto político, se funda menta principalmcnte na ideologia do pufráprio universal; e, aliada a real educação popular, pode levar h realização do legítimo ideal demorrático-socialista de ipualdadc ca e política. É o que, apesar das opmioes, em contrário, de muitos listas sociais e políticos, está ver acontecendo por exemplo Klatcrra
ritameoa, prmcipulmonto a Nova Zeláne e o quo, scCTndo indícios vZT' “ ‘●'“ntecor Estados Unidos da Amériu., No Brasil, o advento da massa no crise iTr. 1 ^ """« ""«e de lirlolança do propor
tanto, ainda vn^ros c ambífruos; e o processo de explicitação é long:o e demcirndo. O vazio de valores, de outi'o l.'ido, c ninria mais perigoso pa ra a democracia brasiloirn, porque traz consigo nnia do.scrcnçn funda mental que gera angústia o apatia, , prevenindo a formação de novas mi norias, indispensáveis à conduta ade quada do processo político.
As con.seqüGncias desta deslocação do poder político para a massa são a demagogia prevalccento nos partido.s o nn.s instituições políticas da nação, a corrupção administrativa, e 0 papel do dinheiro na competição pelos postos eletivos.
universal, com a fpara limitação da zação, deu todos
do o ca pa. a nação a irremediável.
veenos ca do Norte. ções trágicas iragio O .HUmesmo comproendiBrasil) drásti necessidade dc alfabetia massa, ineducada sob os pontos de vista, e princinalmente sob o ponto de vista estrita, mente político, um poder eleitoral ra o qual nao estava o não está pre parada, e que, a meu ver (digo-o sabendo_ todos os riscos de uL tal Hiiinmçuo), pode Icvcir uma revolução social i Êsse advento da
1 - . 1 ,. massa implica numa revolução ideologica. Os valores valecentes pas.saram pre^ a ser os valores da massa, e, não menos importante inúmeros valores, tradicionalmente aceitos pelas minorias anteriormente dominantes, foram rejeitados, r outros tomassem o seu lugar, atuais valores não são conscientes e explícitos, na sua maior parte,
sem que Os e, por-
Dependentes do eleitorado, tidos políticos' brasileiros estão adaptando com rapidez extraordiná ria ao fato íncscA])Avol de que o seu prestígio político e as suas vitórias eleitorais dependem do cortejamento incessante da massa, que hoje titui a esmagadora maioria dos elei tores. A administração pública fre também incisivamento o impacto dos novos valores c do vazio ético existente, não só através da pressão social da massa, perceptível claramente no.s novos meios de comunica ção, ospecialmcnte n nova imprensa brasiloirn, 7nas principalmcnte atra vés dos próprios partido.s políticos, que constituem os agentes principais de recrutamento do funcionalismo brasileiro. A força do dinheiro faz sentir cm todos os setores da sociedade brasileira, mas principalmeiite também nos próprios parti dos políticos, dependentes dele para a sua propaganda política, que, reinado da massa, é essoncialmento demagógica.
o.s par¬ se consso¬ se no
A crise brasileira de liderança tem
DrcEffTO 66
● ainda uma causa peculiurmente nos sa, conjuijTudu a todos esses fatores, que SC prendem â dominação do mun do político pola massa.
O i)críod(> jçetuliano de 1930-1945 constituiu um cstrangfuiumento das ambições políticas dos brasileiros, afastando das funções públicas as minoiias voncitlas em 1930. O acesso aos caryos i)üblicos passou a ser uocessàriamonto condicionado à adesão e lealdade à pessoa do ditador, ou aos seus sejíuidores imediatos, a coterie revolucionária, civil e militar, em que êle se apoiava, personalizan do, e, quase que se poderia dizer, feudalizando a atividade política brasi-\ leira. Jisse fato é de importância ex traordinária porque, aos poucos, de senvolveram-se, ao redor do ditador e de seus continuadoros, grupos po líticos, mais tarde autônomos, e que dominam ainda hoje a vida política <lo país, com a mesma tradição de ilegalidade e arbítrio que caracterizou o Estado novo. Entretanto, o efeito principal dêsse período foi o hiato que causou, nas minorias políticas anteiáores á 1930, postas à margem do processo político, entre as suas gera ções políticas, com a exclusão de uma, e a conseqüente perda de contato de toda uma seção da mocidade brasi leira com a atividade política da na ção.

As três crises discutidas neste tra balho e a de liderança presente conjuntura política brasi leira. É indubitavelmente um quadi'0 sombrio, que acabei de pintar, e que quis patentear em tôda a sua crueza, mas que não é desesperador. Tôdas as nações ocidentais passaram por períodos como o que atravessamos.
a institucional, a ideológica, caracterizam a
de extrema instabilidade e de extre mo desconforto espiritual, venceram períodos semelhantes, se não ilesas, pelo menos sem a perda de liberdade essencial à dignidade da pessoa humana; algumas, como por exemplo a Inglaten-a, venceram pe ríodos de ti*ansição ainda mais ins táveis e perigosos, não só sem a per da de liberdade, mas com evidente ganho espiritual, e estão a caminho da realização de uma sociedade social, econômica, e politicamente justa.
Várias
Os processos históricos nunca sào inevitáveis, e o destino de qualquer nação depende de direção consciente, que é sempre possível. É esta uma pressuposição inevitável, em toda análise social ou política; de outro modo, se os acontecimentos históiicos se encadeiam inexoravelmente, apesa.r da compreensão que dêles te mos e do esforço para influir uêles, tôda atividade intelectual é insensa ta e fútil.
A presente conjuntura política brasileira comporta correção, que po de levar o pais a superar as suas atuais dificuldades e a entrar no ca minho que conduz a uma democracia real, baseada na igualdade e na li berdade.
As crises políticas brasileiras, ins titucional, ideológica e de liderança podem ser debeladas pela canalização das ambições políticas. Essa canali zação se poderá fazer, a meu ver, com a adoção do três séries de medi das, tendentes: a) a-evitar o perni cioso multipartidarismo brasileiro, forçando o desenvolvimento, embora necessariamente gradual, de um sis tema bipartidário, que possibilite a existência de governos fortes, e, si multaneamente, de oposições constru-
DICKSTO llCONÓMlCO 67
nas assemna opo
sição, de criticar construtivamente o programa político do base também governo, com em programas eleito rais definidos; c) a garantir a demo cracia partidária, forçando a escolha de candidatos determinação de programas eleitorais no seio das con venções; d) a frear a tendência de magógica dos partidos políticos bra sileiros, possivelmente a mais difícil (embora não impossível) das tare fas que defrontamos;
e a e e) a impedir corrupção política e administrativa. Para a rejeição do multipai-tid
a arismo e para a criação de um sistema bipartidário, a medida de base é a subs tituição da nossa presente modalida de de representação proporcional, má como todos
mesmo tipo, adotados no mundo in teiro, pelo sistema de escrutínio uninominal, que, como tem mostrado experíência política do mundo ociden tal, força gradativamente o desapa recimento de partidos políticos significação social. O sistema eleito ral de escrutínio uninominal, baseia no princípio majoritário
iodoti os postos eletivos, é já o passo| iuiciul puru a criação de disciplina * partidária, como demonstra a expe^ riência política dos puises que o ado* tam; mas, no inicio, serão imprescin díveis dispositivos legais expressos, sancionados pela própria perda do mandato, cojitra defecções de quadros partidários. A democracia dentro dos jjrópriüs partidos politicos será con seguida fãcilmentc com regulamenta ção detíilhada das convenções parti dárias e com a sua rigorosa fiscaU* zação. A demagogia, prevalecenta no Brasil, só será realmente elimina da através de uma intensa educação do eleitorado, e é projeto de execução a longo prazo; mas certas medidas de caráter imediato podem desde lo go ser tomadas — a primeira delas, seguindo o exemplo inglês, devendo limitação legal de despesas elei torais de cada partido político para cada candidato, venham de onde vie rem os fundos necessários. A corrup ção política e administrativa, que ten derá a desaparecer se as medidas an teriores forem adotadas, poderá tam bém ser eficazmente combatida atra vés de leis penais rigorosas e de co missões parlamentares ou executivas de amplos poderes, rigorosamente de finidos em lei.

a
A discussão e a análise dos deta lhes ulteriores dessas medidas, a meu ver impx’escindíveis à correção da política brasileix^a, e da possibilidade e modo de sua adoção, fogem ao es copo do presente trabalho.
4 h
Diüe:>tu
.scr
68
tivas; b) a garantir disciplina par tidária, impedindo defecções dos quadros politicos definidos por i* i, os partidos políticos, isto é, impe dindo a representação, bléias, desacompanhada, no caso dc partidos políticos no poder, da obri gação de cumprir plataforma políti ca apresentada e ratificada pelo elei torado, e da obrigação simultânea, no caso de partidos politicos r
os outros sistemas do a sem que se para
SITUAÇÃO EC0N6MICA DO BRASIL/.
Luiz NÍknixinça de Theitas f/
No número anterior desta revista apresentamos um resumo do últi mo relatório do Conselho Nacional dc* Economia sôbrc a situação econô mica do Brasil no decorrer de 1953. Esse trabalho completa os dois rela tórios anteriores (1951 e 1952) do mesmo Conselho, abordando com muito critério os problemas mais de licados com os quais se defronta u nosso país. Vamos nos limitar agoi-a à apresentação do relatório refe rente a 1952, que dá atenção espe cial aos problemas relacionados com produção agrícola e industrial. Em face da complexidade das ques tões que estão a exigir uma política corajosa das autoridades competen tes, três alternativas se apresentam autoridades responsáveis segun do o Conselho:

3,0) 0 Govêrno, sem alterar a estrutura econômica do país, procura atender a . todos os setores, mas, por falta de recursos adequa dos, vê-se na contingência"_de não oferecer a nenhum dêles uma solução econô mica. Infelizmente, essa é a tendência que se vem registrando”.
Em resumo, é o seguinte 0 relatório citado:
a as
O Govêrno se empenha decisivamente na explora ção direta e exclusiva de indústrias básicas e, por falta de recursos, deixa de atender a serviços con cernentes a outras ativi dades;
CAPITULO I — POLÍTICA líURAL ■
a) Problemas agropecuários s_1
Com 0 crescente aumento da po pulação do país a agricultura se torna cada vez mais importante. i' Entretanto, esta atividade tão essencial à pi-ópria sobrevivência da ( nação está em situação precária, ' mercê de fatores adversos cuja atuação precisa ser examinada com cuidado.
os se-
2.0) O Govêrno atende cabal mente às exigências fun damentais de todos tores econômicos e, caso, remodelação da estrutura tributária, o que envolve sérios problemas consti tucionais e políticos;
^As dificuldades da agricultui‘a pro- ^ em boa parte do modo por que < se processou a ocupação econômica do território: — derrubada e queima ^ das matas e abandono das terras quando as safras cair.
de- começavam a
região (Rio
T'.
'_!
'
vem
U
me
As terras tropicais são pouco férnesse teis e se exaurem com ranidez impoe-se completa «A lavoura de café, feiS parale-lamente as do milho e leguminosas, i permitia a produção local de enor--'● massa de alimentos; daí a densi- ' dade demográfica da I I i
São Paulo
mão-de-obra que o café exigia, pois que, numa época de transportes pre cários, tinha cada agricultor de or ganizar o seu próprio suprimento ali mentar. ”

Cafêzais deficitários foram do substituídos por pastagens.
Minas) pela elevada sencomo
A exploração agrícola tem, método generalizado, o da agricul tura itinerante.
“Quando a ten-a está cansada é largada ao abandono, até que novo revestimento vegetal espontâneo proa restauração parcial do solo, para certos tipos de lavou mova
Esse tipo de exploração faz com que a grande propriedade seja uma ^ condição indispensável rotineira. na produção
Apesar de 99.é das propriedades rais do país não billdade, possuírem con ruta^í?ricultores percebem as condições precárias dessa atividade. ‘Dessa convicção resulta a in suficiente inversão de capitais na l| agricultura, e o crescente abandono f das zonas rurais’'.
r u
Impõe-se um trabalho tenaz e , demorado visando ( técnica na exploraçã ( que consiste em passar da agricultura de mineração [ agronômica”.
ticltícionamento das soinentes. As produções agricolus poderium aumen* tur nessa base, se houvesse utiliza* çüo de sementes de boa qualidade.
É necessário, poi*tunto, ampliar os serviços de pesquisas aj;ronômicas, scni u que. este problema não será convenientemente atendido.
b> O desperdício na produção agropecuária brasileira
i^or falta de armazenagem dequada perde*se anualmente:
— no Itiü Grande do Sul — ll</o da safra de trigo (38.000 em ●3ÕÜ.0UÜ tons.)
— em São Paulo de miliio (pesquisa do Instituto Biológico).
— Para outros cereais e leguminosas alimentares as perdas são de 20%, chegando a 3ü7o pequenas propriedades.
Em 90% dos casos as colheitas são guardadas em espaços abertos sem o controle de insetos e roedores. Seria necessário esclarecer os agri cultores sobre este ponto.
O problema da estocagem tem de ser atacado sob seus 2 aspectos: o das grandes concentrações e o da armazenagem individual em cada propriedade.
Só na organização da produção
uma revolução o agropecuária a para uma fase encentraremos saída para essa situa ção.
É necessário aumentar mento do trabalho.
o rendi-
FATÔRES LIMITANTES DA PRO DUÇÃO AGRÍCOLA
a) Semente
As colheitas de cereais sofrem per das de 20 a 25% em virtude do não
O abate nas charqueadas do país é de cêrea de 800.000 cabeças, o pre juízo por falta de aparelhamento adequado é de:
Sangue
Farinha carne
Farinha ossos
2.000 tons. 16.000 tons. 16.000 tons.
Nos matadouros municipais são abatidas 3.000.000 de cabeças que da riam:
Dicesto Econômico 70
1
30% da safra
{ l‘
;
Us prejuízos totais são de:
Sangue n 2.00
Fní-inlia carne a 4,00 Farinha o.ssos a 2,50
28.500.000
148.000.000
152.500.000
329.000.000
Êste cálculo se refere aos bovinos. São abaticlo.s 6.000.000 de suínos com perda de 20.000 tons. de subproduto.s no valor de Cr.8 90 milhões por ano.
Leite o mercado consumidor é regulado pela produção mínima. Na época das águas há uma su perprodução diária de 220.000 litros.
Há desperdício de carne em virtu de do transporte a pé. cio deve ser de 60.000 tons. de O desperdícarne por ano.
Além da baixa produtividade da
terra e da técnica deficiente, o cus to de produção ainda é agravado,pe lo desperdício.
c) Mão-de-obra agrícola
Os salái.js na agricultura são bai xos porque a produtividade do traba lho é pequena. A melhoria dos salá rios depende do aperfeiçoamento tec nológico da agricultura.
O operário rural é pouco assíduo. Sobretudo em regiões doentias, a freqüência do operário fica à.s ve zes reduzida ã metade.
Vale mencionar como elemento de desorganização do mercado de tra balho, 0 nomadismo de ponderáveis contigentes de população rurais, que se deslocam de propriedade em pro priedade, quase em trânsito, em bus ca de melhor salário, quando não por simples desejo de mudança. A sua fixação ao solo é um dos problemas fundamentais da organização da no.ssa agricultura. Devem ser adotadas medidas de proteção aos ar rendatários e parceiros.
Merecem destaque as mi- . grações internas. No perío do'de tempo em que essas massas de trabalhadores se deslocam, não produzem e pesam sobre a economia na cional.
O desemprego parcial é característica da agricultu ra brasileira.

TJm meio de atenuá-lo consiste no colonato-parceria, de modo a dispor o pro prietário de mão-de-obra es tável, que. na época de va cância, ê utilizada em lavou
ras dos próprios trabalha-
r Dicksto EcoNÓxnoo 71 Snncue sêco Fnrinha cnrno Farinha ossos 7.500
21.000 tons. 45.000 tons.
tons.
l
^
A regulamentação desse tipo dores, de assalariado é uma urgente neces¬ sidade.
Deve-se salientar o baixo nível téc●nico do nosso trabalhador rural. To do o esforço para especializá-lo te rá efeito benéfico na produção.
Deve-se promover a melhoria do
padrão de vida dos trabalhadores nirais promovendo o cultivo de drcas de livre uso o melhoria das habita-
Para atender a 2 milhões de pro-
priedados e 112 milhões do animais o governo possui 800 agrônomos e ●300 veterinários.
CAPÍTULO II — POLÍTICA OE MATÉUIAS-PHIMAS MINERAIS
a) I^mlução

DiOESTO liCONÓMlCO % 72
ções.
♦
Produzimos: Minério de ferro 1949 — 1 .887.777 tons. 1050 — 1 .987.42.0 1940 — 2.128.8.58 19.50 — 1.9.58.409 1949 1950 1949 1950 1049 1950 1949 1950 1949 1050 1049 1950 1049 1950 Í9 U 231 .417 195.51)5 10.213 18.570 20.270 23.817 1* f9 19 T» 99 99 959 1.007 1.303 1.813 9} 11 3.7 u 4,08 0,05 0,06 19 11 Carvão-de-pedra Manganês Bauxita Mármore Arsênico Mica Ouj-o produzimos 1/10 das nossas necessi dades. Prata Zinco E.stanho 1949 1950 100 tons. 120 Produzimos 10% do consumo (cêrea de 20.000 tons.) 11 Chumbo Importamos em 1951 CR.S Alumínio Zinco Estanho Chumbo Níquel Cobre 162.944.000 178.314.000 202.733.000 199.016.000 9.905.000 493.377.000 — 15.929 tons. por — 13.407 — 3.184 — 23.098 11 11 19 71 71 77 y 71 71 281 71 — 28.954 1.246.289.000
f) Petróleo Para aumentar a produção nacio nal ú necessário conceder mais ver bas para pesquisa e prospecção. Mais pessoal técnico. Facilitar ao enífenheiro o exercício da profissão,
cl) lN>lítica Internacional de Ma térias-Primas
Em 1951 coucluiu-se a perfuração de 34 poços, sendo 33 na Bahia. Dês'tes 19 produziram petróleo, 4 gás, os outros nada.

Até setembro de 1952 o C.N.P. p<í’furou 283 poços dos quais
161 produzem óleo (na Bahia) 22 produzem gás (na Bahia) 100 são secos.
O período 48/50
A Conferência Internacional de Matérias-primas estabeleceu o con sumo histórico (19-19/60) como critéi-iü paiii a distribuição de quotas entre os países.
f»ji de lestrição para o Brasil. Por i.ssü estamos em situação crítica quanto ao fornecimento dos seguin tes produtos:
Enxofre
Cobre
Sucatas
Chumbo
Chapas
Folhas e tiras de aço
Fios e cabos, nus e isolados
Níquel
Alguns dêsses minerais poderíam ser conseguidos na Bolívia,
e) Política de combustíveis e de energia elétrica
Cerca de 76% dos motores existen tes no país utilizam a lenha como combustível sem contar locomotivas, navios fluviais e consumo doméstico.
Daí a importância da energia elé trica, cuja produção exige a mais de cidida contribuição do capital parti cular, o quo exige preliminarmente a modificação das leis existentes.
A produção do carvão nacional não satisfaz a ijròcura.
Produzimos em: 1949 1960 1951
2.128.868 tons.
1.968.649 tons.
1.949.649 tons.
Os poços baianos já produzirauí até setembro de 1952:
2.219.714.000 barris, 352.984.370 litros. sejam ou
A refinaria de Mataripe refina 2.500 barris diários.
Em 1950 importamos de petróleo 4.819.823 tons. valendo US$ 162.156.000.
Em 1951, 4.819.823 tons. valendo US§ 162.156.000,
Estas importações absorvem unia enormè quantidade de divisas.
g) Petrobrás
Não é justificável impedir a par ticipação de particulares nacionais e estrangeiros na pesquisa e explo ração do petróleo. Essa política re tardaria 0 aumento da produção.
CAPÍTULO III POLÍTICA
a) A expansão Industrial
Dicksto Econónuco
U
i
INDUSTRUL
Censos 1920 N.o fábricas 13.669 N.® operários 293.675
bj Fatores adversos
Êsse surto industrial ameaçado:
acha-se
1) pela escassez de energia elé trica.
2> atual situação do comércio ex terior, ausência de técnicos.
c) -Manutenção do gresso industrial ritmo do pro-
Deve constituir diata do Estado os fatores adversos Energia Elétrica
preocupação imecondgir e desviar apontados.
Cube não perder de vista u falta enornie que tem feito uo pais o flu xo de capitais oritfinados do exterior.
Em 1951 e 1952 as inversões de caI)itais estrangeiros foram correspon dentes a 20% das aplicações na pro dução. Desse total 907o eram reinversões de lucros.

É necessário que o Governo entie em entendimentos com outros países a fim de evitar a dupla tributação.
Enquanto isto não se conseguir, deve financiar através do B. N. Desenv. Econômico a compra de equinamento no estrangeiro.
d) Diretrizes para o desenvolvi mento industrial escasses^ estudou o problema da escassez de energia elétrica mendou a modificaçâ e recoda legislação
O C.N.E. iá
Deve o governo estabelecer um cri tério favorecendo as atividades que vierem a concorrer para o alívio da situação do comércio exterior. em vigor e a adoção de medidas 0 estimulo da iniciativa privada. Foderia ainda ,carvão nacional para
o para ser aproveitado . ,. . ^ produção de energia térmica na bóca das minas Transportes
o
e) Localização das Indústrias
O Estado deve objetivar
1)
O primeiro objetivo do governo de ve ser reaparelhar as estradas exis-
* tentes antes de construir outras. A i falta de financiamento constitui um
2) empecilho para que as estradas de ferro comprem material
Daí a pressão para desses produtos, vem ser alcançados:
nacional, importação
3)
proteção do parque industrial contra riscos de guerra de congestionamento dos gran des centros desenvolvimento de regiões potencialmente ricas
Melhoria das condições técnicas dos traçados;
Progressiva padronização do mate rial ferroviário.
Balança dc Pagamentos
Indicamos mais detalhadamente
Dois objetivos dea as
4)
elevação do padião de vida de certos grupos da coletividade.
Problemas de Exportação
O primeiro fato a assinalar é o pequeno aumento no volume de nos-
74 Du;E5XO Ecosó^uco 49.418 89.U8G 194Ü 19ÕÜ 781.185 1.256.807 medidu» que poderíam ser adotadas jjuru u suu solução no cup. IV. Capítuitj
1
COMERCIAL
CAPITULO IV POLÍTICA
I
i
Ba exportação (de 1947 a 19511 ao mesmo tempo que um aumento proTuincíado no valor médio até 1951.
O secnmdo c a queda do valor médio a partir do 1Í>.'»1. e a conacqüento re dução do volume de alguns artigos, a qual atinge, cm certos casos, ao quase total desaparecimento.
Cumpre acentuar as dificuldades dccoiTontes da disparidade entre o-s preços internos e externos dos p7-odutos e nossa exportação, dispa ridade es.sa mantida pela inflação.
É necessário que diversifiquemos nossa produção, pois não se deve e.sperar substancial aumento na expor tação do café c do cacau, nos próximo.s anos, pois os outros produtos do no.ssa exportação não são capazes de contribuir com grandes quotas, e.as áreas, para a absorção de nossos pro dutos, não apresentam perspectiva de próxima ampliação.
de minério de ferro, das quais lí milhões importadas. O Brasil for neceu apenas 940 mil toneladas.
Em 1953 a produção mundial de aço deverá .ser de 266 milhões de to neladas, das quais 20,7rr na órbita da URSS e 117.700.000 toneladas nos Estados Unidos.
Como as minas americanas e.stão se esgotando os Estados Unidos im portarão quantidades cada vez maio- . res de minérios de ferro.
a Para os Estados Unidos as minas mais vantajosas são as da Vonezue- ’ la, que já estão sendo exploradas por Cias. Americanas subsidiária (Iron Mine Co. da Bethlehem Steel Corp.) e Orinoco Mining Co. (U.S. Steel Corp.),. litoral (2.150 milhas do Estão a 60 kms. do porto ameri cano) e^as resenhas são da ordem de 1.3 bilhões de toneladas, suprindo as necessidades por 100 anos.
Restam-nos medidas parciais e a adoção de mudanças estruturais, de mais lenta execução.
Devemos incrementar a exportação de minérios.
AíANGANÊS — Em 1951 exporta mos 119,900 toneladas. Se não se encontrarem outras jazidas no Es tado de Minas Gerais, as‘ atuais se esgrotarão no fim do século, tem jazidas em milbóes de toneladas)
(10.000.000 de toneladas) exploradas pela Betblebem Steel Corp., que come çarão a produzir em 1954, dando ao país 3 milhões de dólares por
ExisIVIato Grosso (34 e Amapá ano.
MINÉRIO DE FERRO — Em 1951, os Estados Unidos para produzirem
305 milhões toneladas de aço, utilizaram 140 milhões de toneladas
expansão ano, apenas.
seus proa capacidade milhões de to- .
limitações devemos .
A Cia. Vale do Rio Doce, o porto . de Vitória e a E. p. Vitória-Minas . terão, quando completarem gramas de máxima de exportar 3 neladas de minério por Com estas atingir em 1960

cft /.A exportação de 50 a 60 «ulhoes de dólares de rainéno (na base dos
a preços atuais).
Ppuco podemos esperar de outro? Itens menos significativos do nosso eetor nimernl. j,,
(laranjas óleos, fibras etc.) não tem capacidade pai*a nm ● derável, dada a ^ sua baixa renre^entaçao no nosso intercâmbio
Os Estados Unido verão tender, s G a Europa dcpara 0 futuro, a con- .
r Dicksto EcoN6^^co 76
l
, sumir maior quantidade de produtos tropicais que o BrasU pode fornecer.
Tem sido exagerada a possível con corrência da Á.sia e da África. A lonífo prazo bastaria que as inversões de capitais fossem do mesmo porte no Brasil e nessas regiões para . . cedo nos distanciássemos ,mos de progresso.
Em 1952 até julho n nossa impor‘tação foi de 1.591 milhões de cruzoiro.s, dos quais 1.422 (00%) paíjos em dólares.
que em tér-
Contudo, não devemos procurar n aulo-suficiêneia em trijco, o que di ficultaria o lUíHso intercâmbio com a Arjfentina.
Tal política seria vantajosa para as duas partes.
GRAVOSOS — Há-os de du — econômica e cambial. sas as cau¬
‘ “ fevereiro
B|l
to de 0 escoamenum estoque de vários produto
s no valor de Cr.Ç 19.183.000.000,00.
Em 1951 as compensações fora m uni terço das exportações brasileir Este regime fomentou a alta dos -preços internos. Seria mais conve niente estabelecer taxas múltiplas.

O número cada
I
as. vez maior de gra
vosos está a exigir mais do xílio aos produtores. que au-
\ POLÍTICA DE COOPERAÇÃO CON TINENTAL
Uma política realista interamericana deveria estar baseada pia cooperação regional.
Quanto aos combustíveis, estando pronta a E. F. Brasil-Üolívia, o Bra.sil poderá contar com 20.000 barris diários de petróleo bi'uto em Corum bá (O consumo atual — fins de 1952 — é de KIO.OOO barris diários).
cm lugar de um vns- Nesse setor, to planejamento ou prévio esquema de ação, somente .serão possíveis pla nos de curta duração, que se sucede rão ao longo dos fatos e com estes terão de ser atualizados”. A con-
contração da direção em um órgão supremo retardaria os movimentos”.
A receita pública nacional foi em: 1960 do 41.982 milhões e 1961 de 67.996 milhões havendo um aumento de 16 milhões de cruzeiros.
Em 1948/50 impoi-tamos 5 bilhões
^ de cruzeiros de trigo sendo 4,6 biIhões da Argentina (90% do total).
Em 1951 importamos 2.799 mi lhões de cruzeiros (785 milhões dos Estados Unidos e Canadá — 30% do total). 1
Os impostos passaram de 32.387.831.000 cruzeiros em 1960 para 44.941.915.000 cruzeiros em 1951, em conseqüência de:
1) elevação geral de preços
2) aumento das importações
.3) aumento de imposição fiscal.
A arrecadação nacional vai se con centrando cada vez mais em torno
DicF-vro EcnsÓMiTO^^^^ 76
A curto prazo não se deve subesti. mar contudo essa concorrência. Haja , visto o que sucedeu com a borracha e o cacau. V
, de 1951 adotou-se o sistema de comi( pensações, que permitiu
CAPÍTULO V — POLÍTICA TRIBUTARIA
numa am-
Renda, dc três impostos básicos: Consumo c Vendas c Consignações.
IMPASTO ÍYE TMPORTAÇXO
A tarifn alfandegária no Brasil é c.specíficn o resultou de uma reforma cm 19.S4.
Em termos ad-valorem os
níveis são os mais baixos do mun do, como se pode ver pelo que segue:
Bra.sil
Canadá
EE. ITTJ.
Ernnça
Inglaterra
9%
É preciso que o nosso sistema tri butário seja reformado para melhor incrementar a formação de capital.
Dacia a deveria imposto do renda, pois esse tributo pode inibir a formação de capitais.
nnnceira à prodnçSo e a fiscaliza ção geral, dos transportes ferroviá rios, da navegação marítima e fluvial e vários outros empreendimentos ur gentes, que não contam com a iniciativn particular, e que ficam cita dos ao longo desta exposição, cons tituem encargos enormes, cujo fi nanciamento tem sérias repercussões no gravame tributário. Entretanto, não obstante tão vultosos encargos, 0 Govêmo, tomando ainda mais di fícil a situação financeira do país, revela tendências, nesses últimos qua tro ou cinco anos, de socializar a in dústria da energia, sem adotar, em coiTospondência, uma política ade quada de crédito público e de impos tos. Desse modo, todo esforço de sa neamento do meio financeiro seria prejudicado, inclusive os efeitos que resultariam de planos de hierarqui zação dos investimentos”.
Taxando o consumo e não restrinpnndo 0 crédito o Estado mantém a inflação.
CAPÍTULO VI TOS E

INVESTIMENPOLÍTICA MONETXRIA
Os investimentos de que necessitaem vários setores e de Em virtude dos meios mos sao grande porte, limitados dc que podemos dispor im põe-se uma hierarquização deles.
U
Um programa de socialização de empreendimentos, sem inflação, re querería uma redistribuição mais di reta dos fatôres de produção. E pa ra isso exigiría a reestruturação^ dc todo 0 sistema tributário (socializaÇão).
Contudo, 0 Govêmo uão define sua posição diante da iniciativa Insiste em palmilhar juridi camente 0 caminho da socialização e financeiramente seguir pela estra da da iniciativa particular.
cular.
c) Socialização de empresas e socialização de empreendi mentos
77 I>ICKSTO EcoNÓ>aco
Tendo cm vista o vulto dos capi tais de que o país necessita para obras públicas, deveria o Estado conseguir ôsses recursos através dos impostos que recaiam sobre tôda a população, diminuindo o seu consumo de modo g’cral. 22% 25% 25% 22%
carência de capitais, não dar muita ênfase ao 80
O campo de investimentos de ca ráter puramente estatal é vasto, em nosso país, e exige somas enormes. A assistência social, a difusão do en sino técnico na agricultura e na indústida, a' assistência técnica e fi-
Há uma corrente no Govêmo que
considera apropriada ao nosso país um movimento de socialização de em preendimentos, notadamente no po da cnerícia c dos transportes.
do valor da produção íaçrícola + valor adicionado pela indústria), cm 1950 representavam 80rí', o cm 1951* 88<^r.

“Não pretende o Conselho consi derar a socialização como princípio, porém assinalar a incoerência de ati tudes jYi apontadas”.
O fato de não enveredarmos, do maneira decisiva, pela estrada financcira adequada à socialização dos investimentos é devido, evidentemente, à falta de uma convicção do carãter nacional, sobre a conveniência de nos nortearmos por êsse rumo econô mico”.
200 bilhões de cruzeiros isto quer di zer que em cada Cr.8 1,00 foram fi nanciados Cr.$ 0.42. Nos Estados Unidos, c.sta relação é de 00^. se que no Brasil a contribuição do crédito não é tão escassa como se alcíra.
O Conselho já supreriu ao Senado um .sistema de flexibilidade do cré dito nos setores rurais, aliado a um processo concomitante do restrição ^ expansão nos centros urbanos.
O MERCADO DE CAMBIO
para uma renda nacional de VcDg acordo com o Direito Constitu cional Brasileiro o Estado pode perfeitamente intervir nas empresas sem ser necessário encampá-las.
e) Os capitais particiil « e os empreendimentos de utilidade publica
Ale/^-se que o capital particular nao^ aflui para os empreendimentos Dásicos, sondo nece.ssário o Estado assumir o papel de empreendedor Se 3SSO
O mercado da taxa livro de câm bio traz um corretivo ã dificuldade de exportar.
lação obstáculos
ocorre é porque uma Icgisinadequada vem levantando ao financiamento cular na.s mencionadas partiemprêsas. de desapropriação pelo custo histórico (sempre possível) é outro fator desestimulante.
Se o Governo
O risco quiser enveredar pe la socialização dos empreendimentos não deve ser incoerente mantendo os princípios liberais na receita c adotanto os socialistas na despesa.
SITUAÇÃO MONETÁRIA
Evolução dos meios de pagamento.
Em 1940 os empréstimos concedi dos pelos Bancos representavam 75%
Não 8c deve desvalorizar o cru zeiro, o que traria uma apravação do surto inflacionário, que o Governo vem procurando combater. O câm bio paralelo 6 dc caráter parcial e de efeito temporário, providências dc ordem fundamental, | dentre as quais t?g destaca a política de investimento, a criação do merca do livre dc cambio não atinpirâ os efeitos G.sperados”.
Som outras
Só temos uma observação a fazer quanto à política tritícola recomen dada pelo Conselho.
Não vemos porque não deve o Bra sil procurar ser auto-suficiente em um produto que tanto posa em sua balança comercial.
Alpuns problemas 'já não estão mais na ordem do dia ou foram tem porariamente solucionados, tais co mo o dos gravosos e a questão do
Dicesto EcosôNrtco B 78
cam¬ U
►
câmbio livre ou taxas múltiplas, mas as dificuldades apontadas nesses, e em outros setores, continuam a se manifestar com tôdu a sua força. As análises minuciosas c criteriosas de tais questões fazem do relatório um documento da máxima importância
para o estudo da economia brasileira. Em próximo artigo apresentaremos o referente a 1951, no qual constata mos 0 mesmo critério e ponderação, índice dos elevados propósitos que certamente inspiram a elaboração dêsses estudos.

DíCESTO ECONÓ^UCO 79
r? r ■ I r I í 1 t ti,
MIRANDA
AkKAMO ÜE MiO.O iÚlAXCÜ
PUANClòCÜ /VNTÒMO CAJJIUti, DE Ml* itAiíDA, nascido em Caracas em Miriiucla, herói vcuczuchnio, c uvui fi{^ura rüiiianciicü. Afróniu üc Melo 1'ranl)rojuudu coiihcccclor (tOS fü:>tOS íuí* Jjríjsitórtj, CO, amcncanoa, }>üru a
17Õ2, íoi, certamente, de todos os Bul-americanos, que tomaram parte ativa no movimento criador du in dependência dos países desta parte austral do Continente, mais universalmente, ou o que teve a vida mais aventurosa
tacto com as grandes figuras, que lhe foram contemporâneas, do cená rio político do velho mundo. ParraPerez, plenipotenciário atual de Ve nezuela e seu antigo Delegado manente junto à Sociedade das Na ções, meu amigo e companheiro trabalhos de Genebra, publicou, 1925, um excelente livro acerca do seu grande concidadão e enriqueceu essa obra
extraídos dos
o que viveu e maior conpernos em com documentos inéditos arquivos de vários paí
ses, principalmente dos de Paris, Londres, Moscou, Estocolmo Copenhague e Viena.
uü fíOiU cféniera cm (yt/c Perei¬ ro Tcdif^iu, fèz-lhc a bíogro/io, reíomiiuíe livro du diplonuiln /'(irro-Percs sòbrc (Ujucla calratiha pcruonalidadc, misto dc caudilho c humon dc salão. A vida dc Ajrãiiio dc Melo Franco acaba dc scr escrita por seu filho, deputado Afon so Arinos. Trata-se de uma obra interpretutiva da história da república, dc larf^ü fulc^^o, com farta messv dc docu mentação inédita, redigida num estilo encantador, recheada de trechos antoló-
gteos.
— desaspecco-
Creio que será interessante aos lei tores da “Revista Brasileira sa esplêndida criação de Batista Pe reira, que faz honra á cultura de nos sa terra — vulgarizar alguns tos da original existência daquele laborador de Simon Bolívar, o Liber tador, — alguns episódios tomados às páginas do citado livro.
Depois de iniciar seus estudos de filosofia e direito na Dniversidade de Caracas, passou Miranda para a do México, onde viveu um ano, e daí para Madrid, onde fez os cursos de matemáticas, línguas vivas e arte mi litar, ingressando em 1772 no exér cito espanhol, com o posto de capi tão de infantaria do regimento da Princesa.

Tomou parte nas campanhas con tra os mouros e iias que a França e Espanha, aliadas, moveram na AméAntilhas em favor dos in- riea e nas
surrectos que, desencorajados e tra balhados pelo partido lealista, se in clinavam a voltar ao passado e a en trar em uma composição com a Me-
Como Bolívar, Miranda provinha de origem basca, de uma família esta belecida no arquipélago das Canárias, de onde emigrou para Venezuela na primeira metade do século 18. trópole.
Promovido a capitão em 1780, a
o í
* ■
tenente-corouel pouco depois do cer co dc Ecnsúcolu, Miranda começou a ser objeto da inveja dos seus com panheiros do arinus, que viam com ollios os seus sucessos milita- maus
les c se consideravam preteridos por éle, que não era espanhol.
Assim hostilizado pelos oficiais pe ninsulares, abandonou o exército esp:mhoI e passou-se para os Estados Unidos, Wusiíiuton pelo General Cagigal, de Xôra ajuduiite-de-campo.
X)ais, manteve relações de amizade pessoal coni John Adams e Hamilton, que foram, mais Uirdc, Pre sidentes da grande Federação, e com Barbé-IVIarmois, então Encarregado de Negócios da França em Filadélfia , posterioiunente, Presidente do Con selho dos Antigos em seu país.
Animando por todos os meios a propaganda contra a administração espanhola e inglesa nas colônias ame ricanas, governo Amezaga por seu ardente e contagioso entu siasmo
tendo sido recomendado a quem Nesse e atacando virulentamente o de D. Luís de Vuzaga e em Havana, procurando ii infundir a todos a sua con-
fiança nos destinos da América espa nhola, Miranda freqüentava assidua mente u casa de Barbé-Marbois, que esci*evia sobre êle, anos depois, na História da Luisiana”, o seguinte:
Em*julho de 1784, já deixara Mi randa os Estados Unidos e se passa ra a Londres, sempre vigiado pelos representantes de Espanha como ho mem perigoso e cheio de audácia, mantendo aí relações com Lord Ho■we, Lord Shelbume, Lord Sydney. Possuidor de numerosas cartas geo gráficas, planos e documentos relati vos às possessões espanholas e esta do de suas fortificações, Miranda começou a infiltrar-se nos meios da imprensa inglesa e ^ interessá-la nos seus
projetos de independência d:i
América, tendo tido do “The PolÍtical Herald and Review” as seguin tes referências:
“Homem de vistas sublimes e gênio penetrante, instruído nas línguas antigas e modernas, sá bio e conhecedor do mundo. Conmuitos anos ao estudo da Considera a Insagrou política geral, glaterra como a mâe-pátria da li berdade e a escola dos conheciAdmiramos os mentos políticos, seus virtudes”. talentos, admiramos suas ,
Por esse tempo, Miranda ainda se não decidira a romper definitivamen te com a monarquia espanhola, tan to que reclamava, em 1785, do gover no de Espanha, a sua promoção a coronel e pedia justiça perseguições que sofrerá em Cu a e p obrigaram a abandonar o exercito.

Nossos a
Foi por êsse tempo que chea Filadélfia Miranda, crioulo gou de Caracas, jovem empreendedor e astucioso. Êle teve com que es crever esta História muitas confabulações e lhe disse: i*einos da América não tardarão experimentar uma revolução como a de que sois testemunha aqui^".
A correspondência que, então, enConde de Plorida- treteve com o Blancà, ministro do Rei Fernando VII, prova que aquêle lhe dava ain da 0 título de “Tenente-coronel ao serviço de sua Majestade”. Mas, 03
DiuK!>10 Ecünóaucü 81
4t
I
À A
1^ agentes da coroa tinham ordem de ; persegui-lo sem tréguas através do mundo.

t
Nos fins de 1785, já Miranda achava em Berlim, em companhia do Coronel Smith, secretário da Legagação dos Estados Unidos em Londres. ■) venezuelano escre veu ao Rei Frede rico, pedindo-lhe aui ■ torização para estui dar a organização r do seu exército, e r o Rei, por bilhete f, cordial e invocando ^ a proteção divina ■ para êle, admitiu-o ^ a comparecer às fa mosas revistas mi litares, que consti tuíam um espetácuio único na Eu'*■ ropa.
se
A polícia francesa, solicitada pelo conde de Aranda, Embaixador de Es panha, quis impedir a entrada de Miranda em França, e êste atribui.
1 com ou sem razão, a La Fayette a cumplicidade nessas medidas contra êle.
t t S I ’,í
Aranda, morin, .
s
m ra nos Estados Uni dos, e, falando dês—se encontro em um dos documentos con> servados em seu arquivo, Miranda refe^ / re que La Fayette quis entafaular com ■' êl.e
conversações
mm- mm acerca da emancipa ção das colônias es-
panholas, mas que êle se manteve na maior reserva em relação a “um homem pérfido”, iníi clinado, dizia Mirabeau, a dar ouvíJí dos a calúnias subalternas e que pra-
t l:
no Châtelet; Floridá-Blanca, do nas prisões do Castelo de Segovia; e Luís XVI, na Tor re do Templo,
encerraenquanto êle, Miranda, com o sabre em pu nho, se batia nos exércitos da liberda-
La Fayette, em suas “MEMÓRIAS”, só de passagem se refere a Miranda. Com efeito, fa lando dos Girondinos, disse êle: te partido protegeu particularmente a Miranda, cujas ligações inglesas
Ês- il
S ' 82 Digesto Ecoxó.\nco ♦
Íí ■s-
'n0m
I Encontrou Miran^ da em Berlim Gou'* vion, Duportail e L. La Fayette, que ' êle conhecera outro- * > *● ¥ ●
1 1
I
ticou sempre uma política a duas amarras.
%●: ●í 1
Escrevendo, tem pos depois, sobre es se episódio, Miranda idisáe que Aranda, Montmorin, FloridaBlanca e Luís XVI, instruídos Fayette, lhe haviam reservado um lugar na Bastilha, mas fo ram mal sucedidos e tiveram cada seu triste destino: o último foi
por La um o parar em íí> ●iè
Spandau; no precipício; Montdecapitado »..
de.
c vistas pessoais foram sempre mui to equívocas”.
Em 1786, Miranda passou a Milão, onde mantinha relações de amizade Conde Giovanni Mario Andrca- com o
ni, membro do Conselho dos DecuriÕes da Cidade e personagem da Corte de José II, seguindo daí para Roma e Nápoles e visitando, em se guida, o Egito, a Grécia, a Ásia Me nor. Em Roma, procurou entender-se jesuítas espanhóis exilados. com os induzindo-os a auxiliá-lo na conspiracontra a mãe-pátria.
temunho de seu ex-amante, majesta de, coragem, doçura, firmeza e gêO conde de Ségur admirava a nio.
Regressando do próximo Oriente, Miranda dirigiu-se a Arinéia, tra çarias do Embaixador russo o governador militar de Kher-
ção zehdo para son.
Foi nessa viagem que Miranda cofamosa imperatriz Catarina então empreendera sua viacélebre às províncias meridiodo Império dos czares. Em seu vinham Mamonoff, o favori-
a nbcceu n, gem naís^ séqnito ^ do momento, e o príncipe de Ligne, -amante da soberana. O rei da PoEstanislau Augusto, abalaraKanew, para tributar bomenaàquela que lhe dera o trono, margens do Dniester, por cujas descia a flotilha russa, abra-

to cx lônía» ge a gens As águas
savam-se à luz dos fogos acesos h sua passagem; a cavalaria polonesa, da escolta do rei, brilhantemente agaloada, concorria para a decoração do quadro suntuoso, em cujo centro es tava a célebre czarina.
Mulher de 58 anos de idade, era ainda formosa, como se vê do re trato que faz da sua antiga amante, 1780, o príncipe de Ligne. Êle achava na czarina mais formosura do que vivacidade, graça c espírito. Haçm sua pessoa, consoapte o tes-
cm
brancura de sua cútis e madame Vigée-Lebrun, ainda que a achan do muito gorda, proclamava a belede seu i*osto, enquadrado maravi lhosamente em seus cabelos brancos. Miranda foi apresentado à czarina pelo príncipe Potenkim, sendo convi dado por ela a acompanhá-la a Kieff. Relacionou-se logo com personagens importantes do séquito imperial, co mo o conde de Cobentzel, embaixador, o príncipe de Nassau-Siegen, o feldmarechal Roumiantsof, vencedor do grande Frederico em Künesdorff, c o conde Luís Filipe de Ségur. Êste último, que sofrerá a princípiq o en canto pessoal de Miranda, incompatibilizou-se mais tarde com êle e, em Memórias, Lembranças e Ane dotas”, o combateu e ridicularizou, do 3.® volume dessas do conde de Ségur,
za suas Falando “Memórias
Sainte-Beuve se refere ao “espanhol Miranda, aventureiro inquieto, que esse tempo intrigava em São por Petersburgo, como intrigou mais tar de om França e foi na América o prode Bolívar”.
cursor em
Entretanto, Miranda era mais be névolo no modo de julgar o embaixa dor de França. Com efeito, Serviez refere que Miranda citava Ségur “co mo o modelo dos homens amáveis e que, para pintá-lo, êle achara uma expressão pitoresca: alcunhara-o de “courtisan-citoyen”, assegurando que, toda a sua vida e no curso de suas longas e numerosas viagens, ja mais conhecera^ alguém que melhor pusesse ao serviço do seu pais o im pério de sua amabilidade e das gra ças de sua personalidade”.
r 83 Digesto Econômico
ra Ségur
O próprio Sainte-Beuve, que jul gara Miranda pelo que deste disseem suas “Memórias”, foi também duro no que nos deixou escrito acerca deste diplomata e histoNa Rússia — disse SainteBeuve — o conde de Ségur conduziucomo diplomata hábil e cortesão consumado. Procura, antes de tudo, agradar e, em seguida, põe o favor r. pessoal de que desfruta ao serviço / dos interesses de sua missão. Assim, I por exemplo, quando rima um epi» ● táfio para a cadelinha favorita”.
. riador. (C se % tí ,. as relações de Mi-
Em que consistiram, — pergunta Parra-Perez . randa com Catarina H?
Algnns afirmam que êle gozou do privilégio de “rappartement.”, outros negam o fato. Tudo, porém, leva a crer na veracidade da primeira versão.
Em primeiro lugar, o temperamento môrbidamente sensual da czarina, .● que, depois dos 60 anos de idade, le vava uma vida escandalosa, à pro^ cura dos homens de aspecto forte e *J‘ beleza de corpo; em segundo lugar, a ,» natureza psicológica de Miranda, cujo ^ , avisado gênio de aventuras o arras taria a aproveitar a ocasião que se lhe oferecesse de possuir uma im^ - peratriz.
sualidade e de amor, o seu papel de soberana absoluta.
A carta-circular da czarina, reco mendando Miranda aos seus embai xadores e ministros no estrangeiro, foi escrita pelo Primeiro Mi nistro condo de Bezborodko e es tá vazada em tais termos, tão quentes e tão expressivos, que não deixam lu gar a dúvidas acerca da natureza das relações, que existiram entre Catari na e Miranda. “Sua Majestade Im perial, querendo dar ao senhor Mi randa uma prova assinalada de sua estima e do interesse particular que tem por êle, recomenda a V. Ex. que, logo que receber esta carta, conceda a esse oficial o acolhimento conforme o mérito que Ela mesma atribui h sua pessoa, lhe dispense todos os cuida dos e atenções possíveis, dando-lhe sua assistência e proteção cada vez que houver mister e, enfim, lhe ofe recendo, se necessário, a sua prdpria casa para asilo.

Recomendando-vos de uma manei ra tão particular esse Coronel, n Im peratriz quis dar uma prova acen tuada da alta conta em que tem o mérito, seja onde fôr que o encontre, e que um título indefectível, junto a ela, para poder aspirar a suas bondades e à sua alta proteção é o de possuí-lo no mesmo grau em que o possui o conde de Miranda.
w
Poder-se-ia objetar que Sacha Ma^ ● monoff, então ajudante-de-campo e r favorito do momento, se não presta is' ria a ajudar o venezuelano a abeirarse do leito imperial; mas essa objeflt cão cede diante do fato conhecido de V ● aue Mamonoff e a czarina se enten, diam muito bem no terreno da tole rância e ambos fechavam os olhos
O tratamento de “conde”, que to dos lhe davam em São Petersburgo. fêz com que o govêmo espanhol, por intermédio do seu Embaixador, so licitasse às autoridades russas obri gassem Miranda a exibir os papéis que lhe permitissem o uso dêase títudo e o de coronel do exército de Espanha, procedendo contra êle caso não se justificasse.
84 P Digesto Ecokómico
ff /●
, aos desvios da fantasia, tanto mais quanto Catarina queria sempre exerc*er^ mesmo nesses casos de senn
Miranda escreveu, então, uma car ta insolente ao embaixador,reclaman te na qual lhe dizia arrogantemente lhe não faltariam meios do saincredulidade deste, mas que tisfazer a o não fazia por estar a sua re- qu® clamação vazada em linguagem amearidícula. E enviou à czarina cópia dessa carta de resposta, intei-médio do Conde de Bezbo-
çadora e uma por rodko.
Logo depois, IVIíranda se mostrou sociedade, envergando o uniforme de coronel, — o que irritou tão pro fundamente o representante espa nhol, que êste protestou violentamen te junto ao Primeiro Ministro conde do Bezborodko.
meios diplomáticos, invocando os princípios do “Pacto de Família” entre as
Os casas reinantes da Europa, ge”. -se no dever de prestar apoio jylgnram ao representante de Espanha e, por 'ntermédio do Embaixador de Nápo]es fizeram saber aos Ministros de Catarina II que lhes não seria agrajável que Miranda fosse convidado festas e atos oficiais quando o diplomático também recebesse tivesse de comparecer.
às corpo convite e
xou São fero
covêmo, foi conduzido por Mamonoff até junto à Soberana, “que o reteve almoçar e o acolheu da maneira Ela própria começou para mais gi-aciosa.
a falar-lhe da queixa apresentada contra êle pelo encanregado de néda Espanha e comunicou-lhe havia i*ecomendado ao vice-changócios que
na mas, no Ermitajantava
Respondendo ao autoi' do protesto, o Primeiro Ministro declarou que a partida próxima do Coronel faria de saparecer automaticamente o motivo da reclamação e o assunto em si; domingo segiiinte, Miranda com a czarina na
Os ministros de Catarina queriam, provavelmente, desembaraçar-se do incômodo venezuelano, mas, como disconde de Ségur em sua corresêles não se o pondência com Montmonn
ousam Numerosos e Durante algum tempo, Miranda deiãe apresentar-se nos salões de petersburgo, mas, segundo reCobentzel em relatóino ao seu
1 falar nisso à Imperatriz, que o ama, o protege e persiste em acre ditá-lo inocente e perseguido.”
cheios de peripécias
interessantes são os episódios prorivalidade entre vocados por essa
Miranda e certos membros do corpo diplomático acreditado junto a Ca tarina II. Não os reproduziremos não alongar estas notas biográ- para ficas; mas, não encerraremos êste as pecto da vida aventurosa de Miranda sem lembrar que êste, em seus “tête
à tête” com a czarina, a pôs ao cor rente de seus projetos relativos à América espanhola e que foi essa razão que êle lhe teria dado para recusar o pôsto, que ela lhe oferecia exército russo.
a no no
a
celer responder que, se o conde de Miranda era um homem tão perigoso a Espanha, deviam os espanhóis para sentir-se contentes de vê-lo em um país tão afastado; que além disto, este tinha a intenção de partir para Inglaterra, regularizar aí sua de missão do exército espanhol e voltar à Rússia, para gozar do favor da czarina, que quer guardá-lo aqui”.
Nos arquivos do Estado russo, volume da correspondência de BezboTodko com Miranda, encontra-se um recibo datado de 10 de agosto de 1787, pelo qual se prova que êste recebeu, ao partir, duas cartas de

r 85 DiGESTO ECONÓ^^CO
crédito, cada uma no valor de mil j libras esterlinas, — sendo uma sôV bre Londres e a outra sobre Estocol/ mo, Copenhague, Hamburgo e Lonr-' dres. E na correspondência do con de de Ségur com Montmorin se lê que ( “o conde de Miranda, énfim, partiIra, porque os Ministros russos lhe deram a entender que devia deixar a Rússia; mas, ao partir recebera uma soma assaz considerável da Im peratriz”, Normandes avaliava em mil ducados de ouro.

soma que o embaixador
papara tivesse tido n
' É curioso que esse sul-americano, f que o conde de Florida-Branca, Pri meiro Ministro do Rei de Espanha, falando a Zinovieff, embaixador da Rússia em Madrid, dizia ser um trai dor e aventureiro, que desertara ra escapar a merecido castigo e fôra propor aos ingleses um plano atacar as possessões do Rei de Es panha na América, força para criar um mal-entendido entre a Rússia, a França a Espanha e a Inglaterra, aproveitando-se da confusão para tirar partido em fa^ vor da sua aspiração de liberdade e iW,' independência às Colônias espanhoK' Ias da América!
Da Rússia passou Miranda à SuépK cia, onde, apesar de ter querido guarV dar o incógnito para evitar dificuldades com o representante de Espafc nha, foi recebido pelo rei Gustavo III ■ no famoso castelo de Drottnint gholm, nos arredores de Estocolmo, jjt — castelo que visitei em 1930, admirando a beleza de seu parque, que Wt tanto faz recordar o de Versalhes.
Descoberta a sua presença nessa capital, a estada de Miranda excitou, dizer de Razoumowsky, embaixa‘V, dor da Rússia, em cuja residência
aquele se instalara, uma grande in quietação, no público e na corte, "on de tudo era suspicácia e desconfiança, porque tudo aí também era fraqueza e intriga.” Uma carta escrita de pró prio punho pelo rei Gustavo III ao seu embaixador em São Petersburgo, barão de Nolcken, dizia: “Sabereis que um certo conde de Miranda es tá aqui. Tê-lo-eis visto em São Petersburgo. Êle acha-se oculto em ca sa do Ministro da Rússia e tem todos os sinais de ser um espião. Ocultase principalmente do Ministro da Espanha e é certo ser êle o mesmo que esteve em São Petersbiirgo, por que o barão de Ceclerstrõm o encon trou hoje e o reconheceu. Mando-vos este comunicado para que possais acompanhar os passos desse homem logo que êle regresse a São Petershurgo.
Não demorou a resposta do embai xador da Suécia na Rússia e nesse documento o barão de Nolcken dizia ao seu soberano que o conde de Mi randa era um homem de raro gênio, erudito, muito eloqüente, mas impru dente e violento em suas delibera ções, de surpreendente rudeza seus modos. Tendo conquistado as graças do príncipe Potemkin.'acres centava o documento, — Miranda “te ve a felicidade de agradar a Impera triz por sua conversação, sua fran queza, e passou a frequentar dia riamente a sua sociedade”. 0 ba rão de Nolcken ainda dizia, em sua resposta ao Rei, que Miranda revela va profunda estima por êste e que lastimava não ter podido fazer-lho a corte em sua estada na Finlândia, como fôra seu ardente desejo. ,
Da Suécia passou Miranda, .soh a J constante proteção do conde de Rn- J
Digesto Ecokómico
\ *: no
j Jf em
àm
zoumowsky, a Cristiânia, Gotem burgo e outras cidades suecas, che gando depois a Copenhague, onde também se alojou na casa do Mi nistro da Rússia — barão de Kvüdener.
prcscntaute de Espanha o seguiram de perto. Foi pedida ao govêi-no di namarquês a extradição de Miranda, mas êste se defendeu dando aviso disto a Bezborodko, para que o co municasse à czarina, a qual, como tardou a providenciar sempre, nao
Scguiani-no então as suspeitas dos suecos e a velha conMas, o —’intermédio de seus agentes polí ticos, em cujas residências o vene zuelano nunca deixou de encontrar'
por j-gpresentantes tenda com os de Espanlia. conde de Bernstorff, Ministro dos da Dinamarca, se im¬ Estrangeiros asilo.
pressionou íortemente pela figura de Miranda e em sua informação ao rei Crístiano Vii dizia que poucos hotão instruídos como o ve- mens vira nezuelano e que por êle inspirada se a sua o não arrastasse às vezes
maior seria a con¬ fiança imaginaça® do que existe.
além « jjflSílS
I^J■unca vi, dizia o Ministro, homem corrente da revolução na ao
América Setentrional e de tudo quanto aí se passa. Não lhe agradam os processos e motivos, mas êle é entusiasta de seus princípios e da li berdade que, com efeito, deve parebem doce a habitantes de um absolutamente oprimido”.
Em fevereiro de 1778, Mü-anda deiCopenhague, onde suas opiniões e atitudes tinham granjeado tal pres tígio, que, havendo êle se externado contra o regime existente nas pnsoes barão Kxüdener es, vice-chanceler d’Ostermann nos seguintes termos: “o conde de Miranda, examinando aqui os estabelecimentos públicos, ^ com êsse espndto de indagação que 'W o carateriza, achou as pri^soes em um estado horrível, em razao do regide administração por conta dos carcereiros. Havendo assinalado es ses abusos, o fato ® príncipe
xou do Estado, — o crevia pouco depois ao me real à ordenar que Ih® memorial, para sobre es- sentado um
Nessa passagem por Copenhague, Miranda adquiriu também a amizade conde de Shimmelmann, Ministro Finanças, cuja esposa, no dizer
cer país do da»
T, do poeta Jens Baggesen, enfeitiçara venezuelano. Nas “tertúlias” em do Ministro, aproveitava Mi¬ o casa
te calcar-se a reforma’. , _ , Levando carta de recomendação do conde de Bernstorff às autoridades de Altona Lübeck, Mü-anda atravessou cidades hanseáticas, a Alemanha Holanda, sempre sob a as e a Suíça, a
proteção dos agentes russos 0 Primeiro Mie em correspondência randa tôdas as loportunidades para predica de sua idéia permanente: destruição do poder espanhol na América e a libei-tação das colônias. Em uma carta do Ministro Shimmelmann ao príncipe real Frederico obaerva-se quanto influiu a propagan da libertadora de Miranda no espíri to cios que com êle tratavam. Mas, a vigilância e o ódio do re-
a a — conde de Bezborodko —, e regressou à Inglaterra, evitando enterritório francês, onde a

com nistro trar em polícia o espreitava à solicitação do governo espanhol.
Em uma carta do embaixador rus so, conde de Woronzoff, ao seu go verno, lê-se a notícia da chegada de
f 87 DicEsTO Econômico
f Miranda a Londres, onde (dizia o em baixador) se achava êste no lugar mais seguro do mxmdo. “A Corte de 7 Espanha não pode sequer reclamar contra sua presença aqui, nem apo' derar-se dêle por astúcia, o que '● seria o caso de alguns franceses im prudentes, que a polícia de Paris, com a habilidade que lhe é própria, fêz ' retirar daquij mas, o conde de Miran da não é um inocente e sabe evitar essas trapaças. Êle não cessa de elo; giar a generosidade e o espírito caritativo da Imperatriz”.
nificante de suas eternas obrigações para com a Rússia.
Em Londres, Miranda se ligara 3 Fox, Sheridan, Stanphone, Lansdow* ne, Wilberforce, Fitzgerald e outros políticos, que, depois de haverem denado a Revolução francesa, passa vam a aplaudi-la sem reservas e a pedir a paz com a França, combaten do a política de Pitt.
Não obstante essa proteção excep cional das autoridades russas em fa vor de Miranda, afirma Parra-Per k que não encontrou, nos arquivos de r Estado por êle examinados
ez
se como espião ou observador, o que não im pede que êle se tenha mostrado Pre profundamente reconhecido às bondades de
« czaruna, semsua imperial amiga e
t desejo de lhe ser agradável, prova o caso da correspondência do feld-marechal escocês Keith, outrora a serviço da Rússia, de que Miran da obtivera
como o uma copia que remetera
a Catarina II”.
Em 1791, Miranda advertia a Pitt que suas medidas de prevenção tra a Rússia eram ineficazes e não assustariam a Imperatriz. Induzia os ingleses a apressarem a paz; crevia à czarina uma carta impregnada de admiração e entusiasmo, em que se j‘ustifica de ter permanecido na Inglaterra, na esperança de fazer algrum bem à sua Pátria, em vez de r correr aos quartéis ou à Côrte de Ca tarina, para pagar uma parte insig-
cones-
conEntrara para a sociedade dos “Amigos do Povo” e para a de “Estudos Constitucionais” e fizera-se amigo íntimo de Bcntham, que escreveu mais tarde para seu uso um projeto-de-lei sobre a liber dade de imprensa e se propôs a acompanhá-lo panhou a campanha humanitária de Granville, Clarkson, Mackintosh e outros contra o tráfico de escravos e freqüentou Tomas Paine, apóstolo de uma república universal e pacífica e, apesar de súdito inglês, se bateu na América contra a Ingla terra, sendo a sua efígie queimada na pátria como rebelde e hereje.
à Venezuela. Acomque foi
} e esmiut Çados, um só documento de onde possa inferir que o venezuelano tenha estado, a soldo da
Miranda, em meio de sua vida do atividade e movimento, não esquecia a idéia da independência das colônias espanholas. Submeteu a Pitt um pla no de emancipação, acompanhado de um memorial, os quais foram publi cados por Castlereagh no volume VII de Correspondência ”. Pleitea
va êle aí a cooperação britânica pa ra um movimento eventual da Amé rica espanhola contra a metrópole. A situação financeira de Miranda era sempre precária, porque êle nada recebia de seu país. Êle não se vexou de confessá-lo a Pitt, a quem de clarou que Catarina II lhe oferecia uma pensão de mil luíses de ouro por ano, para viver na Rússia. Por um

88DiGESTO ECONÓíI
ou
recibo, visto por Thomaz Paine en tre os papéis de Miranda, sabe-se que Pitt lhe fornecera de uma vez 1.200 1.800 libras esterlinas, — o que levou Comway a tachá-lo de aven tureiro e agente de Pitt; mas, não há provas de que êlo tenha sido cstipendiado como tal pelo governo in glês.
marquês de Combray e de Genoveva d’Epinay e de Brunelles, que Lenôtre fêz heroína de seu livro intitu lado “Tournebut”.
Em março de 1792, Miranda tomou rumo de Paris. A torrente revolu- o
ludída do a P com
gvolta de Miranda contra Pitt foi terrível. Falando ao embaixador russo jjovossiltzeff monstro, que não parece ter senão os conselhos do
dizia êle: ((Pitt é «í’' outro ímm . «príncipe de Maquiavel”. perdida a esperança de lançar a Inglaterra contra a Espanha, resolMiranda transportar-se para a França, onde então — 1791 agitava o grande drama da Revolu ção. Êls queria ver de perto os acon tecimentos, mas tinha receio da polícia francesa, que lhe havia sido semhostil. Evitando chegar a Paris conhecido pelos agentes da po¬
vcu se pre e ser
cionária não tinha nessa fase encon trado o seu leito definitivo e os gran des chefes ora dominavam os acon tecimentos, ora eram conduzidos por êstes ao fluxo e refluxo das idéias ebulição. Vergniaud defende ain da o rei constitucional. Brissot ameaespada da lei os agitadoque pretendem implantar a Re-
em ça com a res,
pública sobre as ruínas da Constitui ção de 1790; Mallet du Pan combate j a democracia, que é para êle o regi- H me da canalha deliberante; Danton ainda se inclina para um rei revo lucionário; Saint Just receia que a República seja uma forma muito ca ra de govêmo; Siéyés mostra-se orleanista e despreza os “republicanos policratas”; Robespierre e Camila Desmoulins combatem a propaganda da República; Marat é o único que tem um sistema original e próprio: a di tadura pelo massacre.

Consoante opinião de Parra-Perez, a política interna da França, em tão dramático momento, não in teressava a Miranda senão na medi-
i
da em que evoluísse, quanto às idéias e aos fatos, em um sentido favorá vel ao êxito do projeto que o trazia a êsse pais: obter o auxílio necessário para libertar a América espanhola do domínio da metrópole. Acreditan do que a França, republicana lucionária, seria capaz de e revolícia real, Miranda se deteve em Ruão durante quatro meses, hospedado em casa do “chevalier” de Combray, rea lista convicto, filho mais moço do
. , propagar ineendio pelo mundo inteiro Mi randa se faz aí republicano e revolu cionário, amigo dos Girondi curando uma aliança
o -inos, procom os que se
89 ● Dicesto EcoNÓNnco
Segundo o testemunho de Chatam, o plano de Constituição para as co lônias hispano-americanas, ideado por Miranda, previa um vasto império do T^jjggissippi ao cabo de Hornos, sem compreender o Brasil e a Guiana, reoido por uma Constituição meio inelêsa meio romana, completamente ^dependente de qualquer influência trangeira, mas apoiado na amiza de da Inglaterra. Êsse plano, porém, esboroou-se quando a Espanha, desida aliança francesa e cantanalinódia à Inglateri*a, assinou esta o tratado do Escurial, pelo lhe cedeu a baía de Nootka. ^^
dispusessem a suWevar as Colonias contra a mãe-pátria.
Com os Girondinos, frequentava casa de Ver^iaud, na praça Vendôme, onde apareciam assiduamente Danton, Brissot, Louvet; na residên cia de Pétion, rua Paubourj? — Saint Honoré, jantava não faltava às reuniões em casa de Madame Roland e foi dos fiéis
a com os Ministros; ao
foyer de la Republique”, onde, como diz Parra-Perez, nura espiritual e a beleza virginal da niarquesa de Condorcet”.
Por essa época a^ava-se a rivali dade entre os ministros de Luís XVT, Servan e Dumouriez, aproveitandor se o rei desse incidente para despe dir o primeiro e desembaraçar-se dos j^irondinos; mas, pouco depois, Dan ton provoca o 10 de aj^ôsto e a As sembléia decreta a suspensão do rei, oonfia o poder aos ministros e con voca a Convenção Nacional.
triunfavam a fiera preos velhos generais, suspeitos re-
Estoura a ^erra com a Prússia, a Ingflaterra, a Holanda e a Espanha. O estado do Exército francês cário; como antieros servidores da monar quia. O próprio La Eayette não ins pirava confiança ^eral, como técni co militar, tanto que Talleyrand, ferindo-se a êle, disse um dia: "il íitait en déçâ de la liíme ou Von est 3'éputé homme d^esprit”.
Dumouriez, no pôsto de tenente-jçeiieral, foi incorporado ao exército do Norte, e Miranda, como marechal de campo, nomeado comandante da divi são de esquerda.
Os documentos publicados por ra-Perez provam que Miranda foi so licitado a aceitar esse pôsto e muito hesitou ao receber o insistente convite. Ele não aceitara o convite de Catarina II para servir no exér cito russo, mas não pôde furtar-so convite da. França, porque aí esta va em causa a defesa da liberdade francesa contra a liga dos déspotas. Antes de aceitar o convite, Miran da escreveu
ao a Fox, dizendo-lhe que seus sentimentos continuavam a ser os mesmos e que êle manteria inviolàvelmente
os o que haviam combi nado e procedeu de modo idêntico ra com pao conde de Woronzoff, dandolhe os motivos pelos quais ia servir h França e acrescentando o seprmnO que me induziu mais forte mente a essa deliberação foi te: H a e?perança de poder x\m dia ser útil n mi nha pobre pátria, que eu nâo posso abandonar”.
A resolução de Miranda causou pe nosa impressão na Rússia, desgostou profundamente a imperatriz seguintes observações do embaixador Woronzoff:
e pro¬ vocou as a o que des viou o Coronel foi a leitura sem dis cernimento dos enciclopedistas confabulações com Raynal, Condor cet e outros da mesma espécie, quo lhe deram a conhecer os sistemas metafísicos do governo livre”.

e suas
Não poderemos acompanhar Mi randa em suas longas e penosas ope rações militares na Argonne, e Valmy, na tomada de Anvers, na cam panha da Bélgica, na guerra com a Inglaterra e a Holanda. Michelet elogia a sua frieza heróica.
Combatido pelos seus próprios com panheiros, que lhe atribuíam o pla no de assumir o comando chefe, já
90 DIGRSTO EcOKÓiflCO
A 11 de setembro, chegava êste ao lugar onde acampava o exército sob o comando chefe de Dumouriez. Le vava consigo um volume de Plutarco, para oferecê-lo a êste último, tt
va
exercido por êle interinamente; hos tilizado por Dumouriez, que o acusade responsável pelo insucesso da tomada de Maestricht e da batalha de Neerwinden; íoi Miranda, afinal, intimado pelos comissários da Con-
Venção a comparecer, no prazo mais breve à barra da Assembléia, para prestar conta de sua conduta.
O comitê militar e o de segurança pública declaram unânimemente a inculpabilidade de Miranda; mas, Danton 0 ataca no Clube dos Jacobinos e Robespierre na Convenção; Brissot o defende e Fouquier-Tinville — o faacusador público — expede um moso mandado de prisão contra êle.
A 19 de abril de 1793, foi Miranda recolhido à “Conciergerie”.
Acusado como cúmplice de Dumou riez e espião da Inglaterra, Miranda perante o tribunal revo- comparece
^ lucionário e é unammemente absol¬ vido.
para restituí-lo à liberdade a 16 de janeiro de 1795. Foi nessa ocasião que Miranda conheceu Bonaparte, ena casa da antiga cortesã Júlia CaiTeau, já casada nessa éposa com o republi cano Talma, em cujos salões se da vam “rendez-vous" muitos políticos do tempo.
Dêsse encontro resta a notícia, que procede de duas fontes diversas: a versão do próprio Miranda e a de Bonaparte, — esta segunda transmi tida pela duquesa de Abrantes.
Miranda fala de Bonaparte cora despeito, “o corso que n intriga aju dara a subir ao trono”, e a quem não dera a menor atenção quando com êle se avistara em casa de Júlia Talma, tendo-se limitado a responder a suas perguntas somente na medida exigi da pela polidez.
A duquesa de Abrantes conta que Bonaparte, falando de um jantar em casa de madame Permon e referindo-se aos seus convivas, acreseentaeu de¬ Há ra;

O público assistente, ao ouvir a leicla sentença, prorrompe estrepitosos, a que Pouem , entre estes, um que é um D. Quixote, com a tura sejo rever: diferença de que êsse não é louco. É o general Miranda: êsse homem tem fogo sagrado na alma”.
aplausos quier-Tinville junta os seus próprios.
A populaça leva Miranda em triundomicílio, coroado de louros, um fato único fo ao seu sendo êsse revolucionários, ódio dos seus adversários
nos anais Mas, 0 descansava e urdia novo plano muitas peripécias e de apelos de Mi randa ao Conselho dos Quinhentos, o Diretório renunciou à idéia de ex-
os não contra Miranda, isto e, contra , os Girondinos, a cujo centro êle se filiara. No “Amigo do Povo”, Marat fulmi nava-o de ameaças; mas Brissot e Pétion, defendendo-o, defendiam-se pulsá-lo da França.
a si mesmos.
Derribados os Girondinos e insti tuída a ditadura sangrenta de Ro bespierre, foi Miranda de novo prê«0, tendo permanecido 16 meses na prisão, cujas portas só se abriram
Durante o Diretório, foi de novo Miranda perseguido e preso, invocan do-se contra êle uma lei de Messidor estrangeiros. Depois de contra
Sua idéia única nesse momento era a de obter da Inglaterra o auxílio à execução de seu plano de indepen dência das colônias espanholas da América.
Munido de um passaporte com no me suposto, Miranda entra em terri-
F ÜiCEsTü Econômico 91
I
tório inglês,^.levando o plano de ar mar e conduzir à América um exér cito de 2õ mil homens; mas, nem aí, nem nos Estados Unidos encontrou êle ambiente favorável aos seus pro jetos.
Traído por seu secretário Dupéron, que vendeu uma parte dos seus do cumentos secretos e o denunciou a Fouché — o famoso ministro da Po¬ lícia — Miranda se dispunha a par'j;' tir para a América, quando se deu em Paris o golpe do Dezoito Brumário, que lhe dava a esperança de abrirem de novo para êle as portas jji- da França. K ■
97 se ly G
testa contra a transferência j Paris das obras de arte tomadas museus e pinacotecas italianos, pro. vocando um debate entre o “Journal de Paris”, que sustentava a sua tese, Rédacteur”, órgão do Dh‘etório, que justificava a apropriação pejos exércitos invasores da península.
I
I
I
raças à intervenção de Lanjuinais, autorizou o Primeiro Cônsul a entra da de Miranda, autorização tácita pa ra evitar reclamações do govêmo es panhol. Fouché, porém, suspeitava do venezuelano e recomendava ao prefeito de Polícia que lhe apreen desse os papéis e o detivesse ao pri meiro motivo. Com efeito, tendo re entrado na Inglaterra a 28 de noxerabro de 1800, era Miranda expulso ( ■ de França a 17 de março de 1801,
t abandonando, nessa data, para sem-
pre 0 tendtório francês.
Em meio das tremendas dificulda des com que lutou, durante toda a crise da Revolução, Miranda teve sem pre gestos cavalheirescos, que mos travam 0 seu idealismo e a elevação de seu espírito. Assim é que, em ple na campanha da Argonne e coman dando os seus dois mil soldados de infantaria, êle escrevia a Petiou, exortando-o a conceder às mulheres o direito de participar da elaboração das leis e censurava a demagogia de Robespierre e Marat. Na campanha da Itália — 1796 a 1797 —, êle pro-

aos e o pois aos
Expulso de Fi-ança, voltou Miranda a Londres, onde procurou pi*evenir o governo inglês contra a ambi ção do Primeiro Cônsul, que amea çava o comércio biútânico de acôrdo com o governo espanhol. Passou deEstados Unidos, a fim de
pedir ao Presidente Jefferson o conexpediçâo destinada a sublevar a Venezuela contra a Metrópole.
O Presidente e seu secretiiiúo dison, alegando não poder auxiliar abertamente, os olhos dição naval e militar, que, afinal, par tiu para Caracas a 2 de fevereiro do 1806.
a roso sia e ram com que
e Turcos, para que o ajudassem.
DlGKSTO ll-CONÓXacO 92
uma curso americano a prometeram fechar aos preparativos da expe1 1 r
Os ministros da Espanha e da França protestaram. Talleyi-and, in formando do assunto o Imperador, diprojeto de Miranda contra zia que o Venezuela era obra da Inglaterra. Mas, a opinião pública americana se apaixonava pelo caso, dividindo-se em dois campos, dos quais o mais numeera favorável aos insurretog. Entretanto, a apatia dos seus con cidadãos, 0 tempo perdido na travesmil outras dificuldades, fizeMiranda se não piides-Se manter em Venezuela, tendo espe' rado, em vão, o socorro da Inglaterapelado em desespero de causa aliança dos Russos, Tártaros ra e para a
Regressando à Inglaterra em de-
zenbro de 1807, Miranda instiga Castlereagh a opor-se à expansão fran cesa na América e, visando a Napoleão, acrescenta: vivemos em um tempo em que o crime, a usurpação e 0 vício se acham no trono e a virtu de se vê oprimida eni quase todo o Continente”.

conduta de Miranda não inspira in quietação, nem desconfiança”.
Neste entrementes, a França en via a La Guayra um corveta de guer ra, com a missão de obter de Vene zuela o reconhecimento de José Bonaparte como rei da Espanlia. O po vo, porém, se amotinou, aos gi-itos de “Viva Fernando VII, abaixo Napoleão e o rei intruso”, e obrigou os franceses a se retirarem precipita damente, apesar dos esforços do capitão-general espanhol no sentido da aceitação da nova dinastia.
Logrando obter a simpatia dos in gleses, restava-lhe ainda a questão da forma de governo a estabelecernovos países da América, porpoderoso ministro, duque de se nos que o WelJington, não queria sequer ouvir falar em formas republicanas. Rasga-se, então, a alvorada de 1810 movimento libertador, que Sobrevindo a guerra da península ibérica, tudo mudou: Miranda protes ta contra o ataque do Rio da Prata pelos ingleses, com um fim de connão de libertação; elogia a de Liniers, dos magistrados de Buenos Aires; escreve
quista e coragem e do povo
e surge o espalhou por todos os povos his pano-americanos, aos quais, diante da fraqueza do govêrno da Metrópole, decidem a empunhar as armas e organizam as juntas incumbidas da administração e da defesa nacional.
se se ijjiprensa inglesa, mostrando o dos políticos em pretender con quistas absurdas na América do Sul; defende, enfim, os interesses da América latina e fala como americano.
na erro em campo
Quando a Espanha se transforma de batalha entre france-
1
A junta de Caracas enviou a Lon dres uma missão composta de Simón
Bolívar, Luís Lopez Mendez e Andrés Bello, — o primeiro, cognominado mais tarde o Libertador: o úl timo, considerado sem contestação das glórias literárias da Amé rica latina. Pleiteavam o reconheci mento e pediam o auxílio da esquadra inglesa na luta com Napoleão; mas, o govêrno britânico recusou-se a interquestão relativa ao regime
ingleses, êle não é por êstes, aqueles, mas procura o moses o nem por ,. , mento propicio a uma sublevaçao das contra a autoridade desfa- colônias lecente da Metrópole. interior da monarquia espanhola, consentindo somente em entrar comediador entre a Metrópole e mo
Aos amigos, aconselha que se não envolvam nas lutas entre franceses e ingleses na península e evitem transportar a calamidade da guerra à América; mas, que se aproveitem da ocasião para libertarem-se do ju go da Metrópole. O govêrno inglês lhe paga a pensão e o deixa tranqüilo, como se vê da resposta de Canning ao Ministro de Espanha: “a atual
vir na
as colônias para opor-se pação e tirania da França”.
a usur-
Chamado por seus compatriotas Miranda anuncia ao govêrno inglês que vai deixar Londres e recolher-se à pátria, de que estivera ausente du rante mais de trinta anos c sempre
í Dioiiio Econômico 93
uma
sua felicidade e preocupado com a o seu futuro.
A 13 de dezembro de 1810, desem barcou Miranda em La Guayra, sen do recebido por Bolívar e Tovar, de legados da Junta Suprema, e pela po pulação local, que exultava de entu siasmo patriótico.
l Convocado o Congresso, que de veria decretar a separação entre Ve nezuela e a Espanha, Miranda foi eleito deputado e assinou, vestido com o seu uniforme de general francês, o ato da independência de seu país, a 5 de julho de 1811.
t V k"
Estabelecida a luta com a Metró pole, Miranda assume o comando do exéi-cito da independência, conduz vigorosamente as operações milita res e sufoca a revolta de Valência; mas, 0 govêmo de Caracas, temendo o general vitorioso, ordena-lhe que deixe o comando das forças liberta doras e retome o seu lugar no Con gresso.
Êsses fatos sacrificaram o êxito da Revolução e determinaram o fracas so da campanha de 1812. Manifestouse inevitável o desastre.

Nomeado tardiamente generalíssimo e ditador, Miranda aceita o esj. _ pinhoso pôsto e exclama: “Estou en carregado de presidir aos funerais de Venezuela”.
Tomando medidas enérgicas para reorganizar o exército, procurando obter socorros do exterior, lutando em todos os setores, combatido pelos grandes proprietários de terras por ter pi'ometido a liberdade aos escra vos que se alistassem nas fileiras, o generalíssirao viveu dias amargos e foi a figura central de_ um drama de pungentes sofrimentos.
Expulso Bolívar de Puerto-Cabello pela traição; abandonado pelos seus compatriotas, Miranda teria de ca pitular.
Deliberando embarcar em um na vio inglês e asilar-se em Nova Gra nada, onde os insurretos ainda se defendiam vitoriosamente, foi prêso por alguns exaltados, que o julgavam traidor à causa republicana, e en tregue por estes aos espanhóis.
tí-
morra os o
Internado na prisão de Cádiz, aí faleceu quatro anos depois. Ao gran de patriota foi reservado o mais triste destino. Do fundo de sua masnem sequer poderia entrever lances épicos da luta da inde pendência, que após dez anos de ba talhas e sofrimentos, foi coroada pe la vitória das armas sul-americanas. Não lhe foi dado figurar nesse qua dro dramático, ao serviço da Pátria, cuja imagem, entretanto, era sempre farol que o guiava nos dias em quo foi protagonista dos maiores .acon tecimentos do velho mundo.
Foi curta a duração da primeira República sul-americana. A contrarevolução foi menos uma luta da Es panha contra a colônia do que uma guerra civil entre americanos parti dários e adversários da continuação do regime espanhol.
a mo
Digesto Económic
í I í k' t: f r I . it
O general Monteverde fêz a sua entrada triunfal em Caracas e exerterríveis represálias contra os ceu sonhadores da independência; mas, idéia emancipadora continuou em marcha ati^avés da América, conduzi da pela espada de outros chefes, coBolívar, San Martin e Sucre. I I
A 14 de julho de 1816, terminou Miranda os seus dias, no fundo do cárcere, tendo nos olhos, talvez a
Wsão de motins e tumultos e não a àos quadros épicos de batalhas pela libertação dos povos.
Conta-se, em verdade, que ao ser preso, o general dormia, fardado e Calçado de botas, em um quarto dc estalagem. Surpreendido, tomou ao

seu ajudante-de-campo uma lanter na e levantando-a até o nível dos olhos, para melhor reconhecer os circunstantes, murmurou com calma e desprezo: essa gente aqui só sabe fazer desor dem”.
U Desordem, nada mais;
rDicESTO EcoxóAnco
96
1 (■ \ i‘ I 1 i
ORGANIZAÇÃO AGRARIA
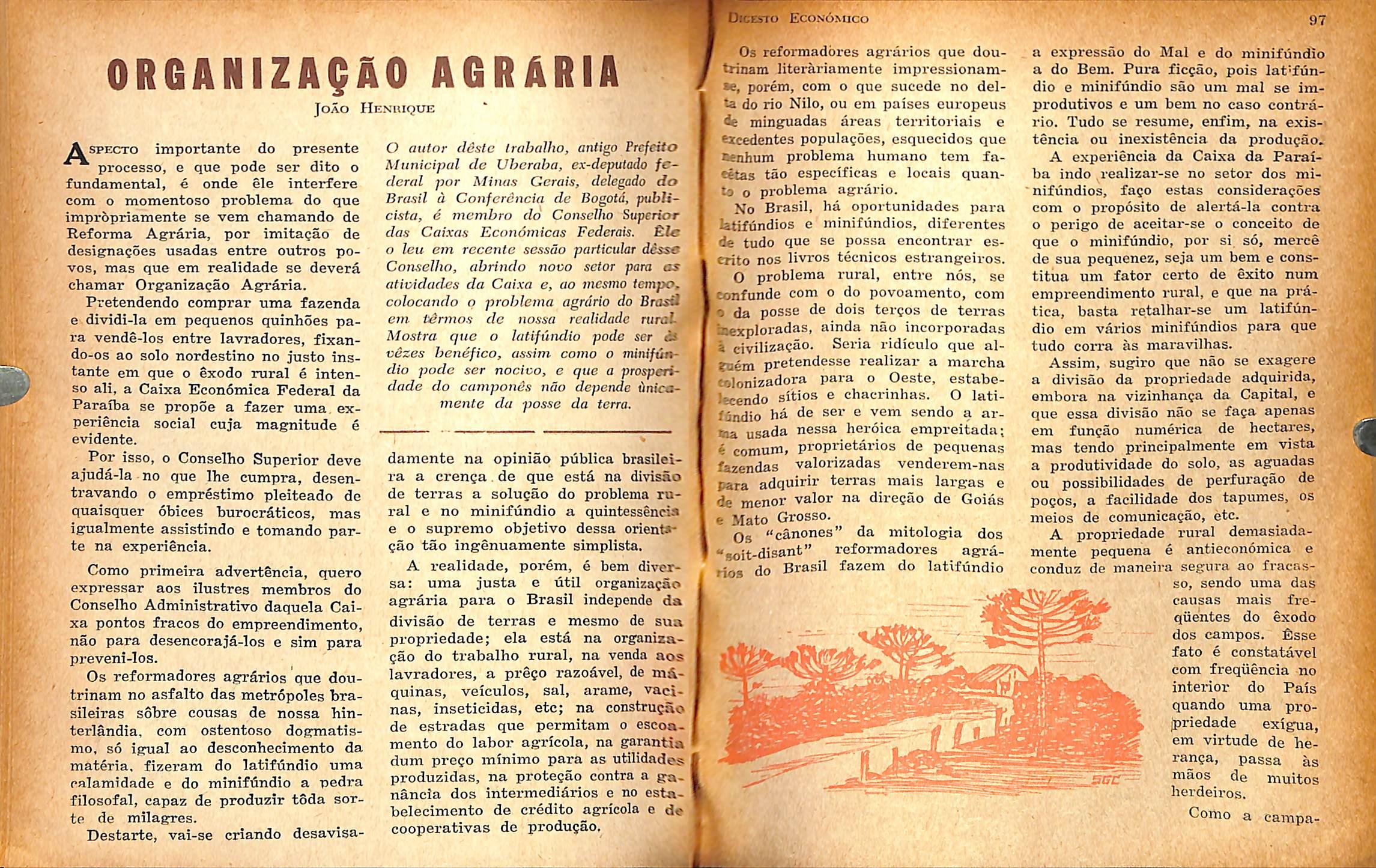
João Heniuque
A spECTo importante do presente processo, e que pode ser dito o fundamental, é onde êle interfere com o momentoso problema do que impròpriamente se vem chamando de Reforma Agrária, por imitação de designações usadas entre outros po vos, mas que em realidade se deverá chamar Organização Agrária.
Pi’etendendo comprar uma fazenda e dividi-la em pequenos quinhões pa ra vendê-los entre lavradores, fixan do-os ao solo nordestino no justo ins tante em que o êxodo rural é inten so ali, a Caixa Econômica Federal da Paraíba se propõe a fazer uma ex periência social cuja magnitude é evidente.
Por isso, o Conselho Superior deve ajudá-la no que lhe cumpra, desentravando o empréstimo pleiteado de quaisquer óbices burocráticos, igualmente assistindo e tomando par te na experiência.
Como primeira advertência, quero expressar aos ilustres membros do Conselho Administrativo daquela Cai xa pontos fracos do empreendimento, não para desencorajá-los e sim para preveni-los.
Os reformadores agrários que dou trinam no asfalto das metrópoles bra sileiras sobre cousas de nossa hinterlândia, com ostentoso dogmatismo, só igual ao desconhecimento da matéria. fizei’am do latifúndio uma calamidade e do minifúndio a pedra filosofal, capaz de produzir toda sor te de milagres.
Destarte, vai-se criando desavisa-
IO oídor dàslc IrabaUw, antigo Prefeito Municipal de Uberaba, ex-deputado fe deral por Minas Gerais, delegado do Brasil à Conferência de Bogotá, publi cista, ó membro do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, o leu em recente sessão particular desse Conselho, abrindo novo setor para as i atividades da Caixa e, ao mesmo tempo, i colocando o problema agrário do Brasà J cm termos de nossa realidade ruratJÊ Mostra que o latifúndio pode ser vêzes benéfico, assim como o minifún dio pode ser nocivo, c que a prosperi dade do camponês não depende tinicumente da posse da terra.
damente na opinião pública brasilei ra a crença, de que está na divisão de terras a solução do problema ru ral e no minifúndio a quintessência e o supremo objetivo dessa orienta ção tão ingenuamente simplista. A realidade, porém, é bem diver sa: uma justa e útil organização agrária para o Brasil independe da divisão de terras e mesmo de sua propriedade; ela está na organiza ção do trabalho rural, na venda aos lavradores, a preço razoável, de má-. quinas, veículos, sal, arame, vaci- ■ nas, inseticidas, etc; na construção de estradas que permitam o escoa mento do labor agrícola, na garantia dum preço mínimo para as utilidades produzidas, na proteção contra a ga nância dos intermediários e no esta belecimento de crédito agrícola e do cooperativas de produção.
Êfc
mas I f i i
I Os reformadores aprários que douf trinam literàriamente impressionam»e, porém, com o que sucede no del ia do rio Nilo, ou em países europeus de minguadas ái^eas territoriais e ^icedentes populações, esquecidos que ^nhum problema humano tem fa ltas tão específicas e locais quanpi'oblema agrário.
Í3 o
N'o Brasil, há oportunidades para latifúndios e minifúndios, diferentes
de tudo que se possa encontrar es crito nos livros técnicos estrangeiros.
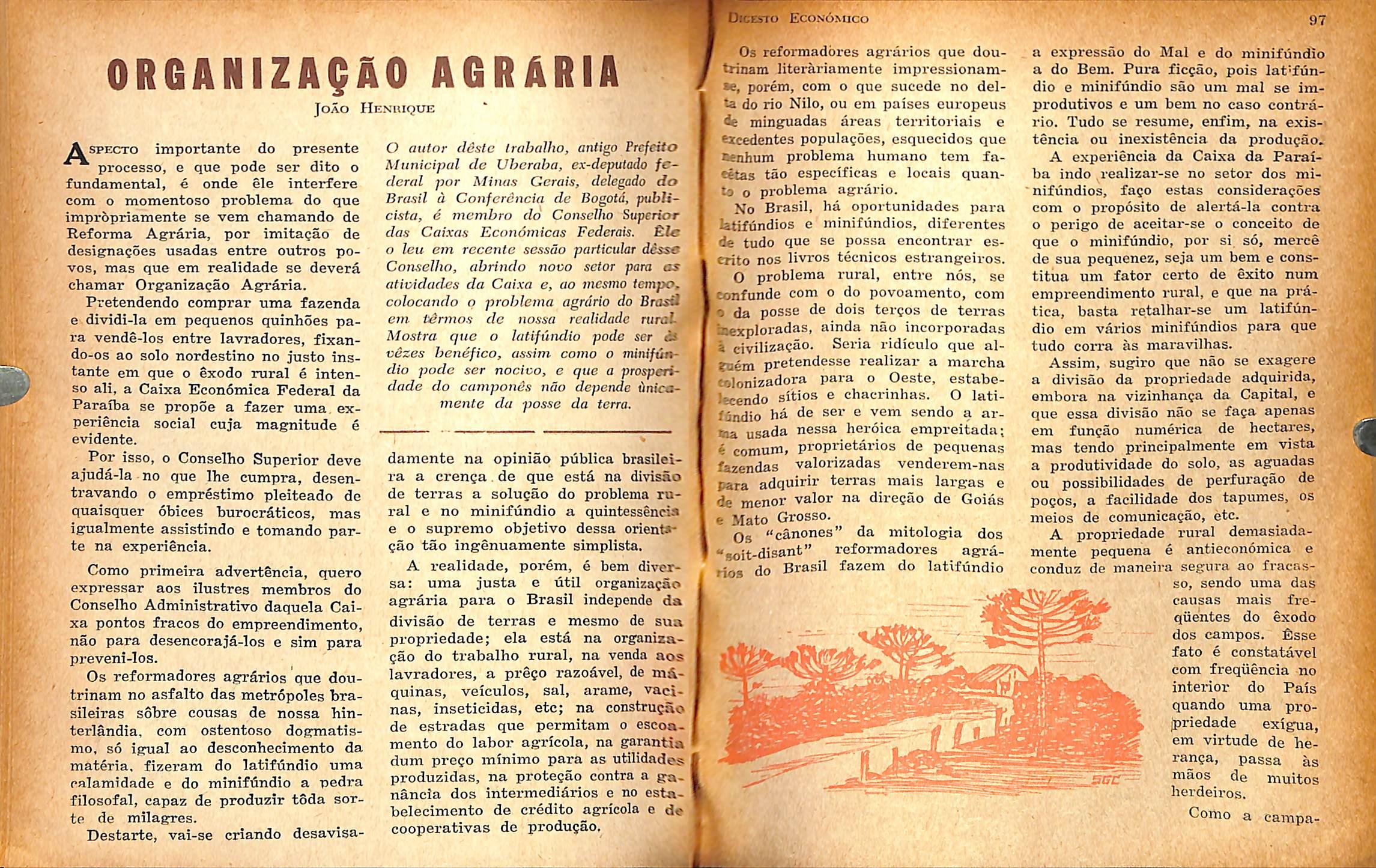
O problema rural, entre nós, se i-jnfunde com o do povoamento, com da posse de dois terços de terras ".exploradas, ainda não incorporadas Seria ridículo que al- civilização.
?iém pretendesse realizar a marcha olonizadora para o Oeste, estabe«cendo sítios e chacrinhas. O lati'jndio bá de .ser e vem sendo a sada nessa heróica empreitada; ar'na u
. , .
4 comum, proprietários de pequenas valorizadas venderem-nas fazendas
adquirir terras mais largas e r-ara de menor valor na direção do Goiás e Mato Grosso.
Qg “cânones 'isoit-disant ” da mitologia dos reformadores agra-
Brasil fazem do latifúndio do ' lOU
a expressão do Mal e do minifúndio a do Bem. Pura ficção, pois latifún dio e minifúndio são um mal se im produtivos e um bem no caso contrá rio. Tudo se resume, enfim, na exis tência ou inexistência da produção.
A experiência da Caixa da Paraí ba indo realizar-se no setor dos mi nifúndios, faço estas considerações com o propósito de alertá-la contra o perigo de aceitar-se o conceito de que o minifúndio, por si só, mercê de sua pequenez, seja um bem e cons titua um fator certo de êxito num empreendimento rural, e que na prá tica, basta retalhar-se um latifún dio em vários minifúndios para que tudo corra às maravilhas.
Assim, sugiro que não se exagere a divisão da propriedade adquiiáda, embora na vizinhança da Capital, o que essa divisão não se faça apenas em função numérica mas tendo principalmente em vista a produtividade do solo, as aguadas possibilidades de perfuração de facilidade dos tapumes, os
de hectares. ou poços, a
meios de comunicação, etc.
A propriedade rural demasiada mente pequena é antieconômica e conduz de maneira segura ao fracas so, sendo uma das causas mais freqüentes do êxodo dos campos. Êsse fato é constatável
5^: - ví '● jfT- ●
com freqüência no interior do Pais quando uma projpriedade em virtude de hepassa
exígua, rança, as mãos de herdeiros.
Como a
muitos campa-
^^DicEbto Econômico
97
'
nha da minifundização integral do . ■ ' Brasil é ponto pacífico dos adeptos ' do regime comunista entre nós, não será demais neste parecer fazer uma referência, currente calamo, aos in teressantes estudos dum eminente SERGE GAexarados em seu livro
publicista i-usso CHKEL
LE MECANISME DES FINANCES SOVIETIQUES”, a propósito da agricultura da União das Repúbli cas Soviéticas.

LE”, trabalho da Fundação Nacional de Ciências Políticas de Paris.
MENDRAS é um homem de forma ção campesina com périplo univer sitário na Sorbonne, apontado pela crítica francesa como um pesquisador rural de altos méritos.
Nos referidos estudos, tomou como tema duas aldeias, a de “Novis”, no Aveyron, eni França e a de “Virgin", em Utah, nos Estados Unidos. Convi veu em ambos os lugares e suas mo nografias .são consideradas preciosa contribuição à tipologia das comuni dades rurais.
au-
Após a vitória da revolução mar1 xista, as terras foram divididas, mas não tanto quanto se supõe: as pro' priedades rurais, em número de de»■;' zesseis milhões em 1913, foram r mentadas para vinte e cinco milhões em 1928. O acréscimo não chegou, . ' como se vê, ao dôbro, mas foi o su ficiente para provocar uma catás trofe na produção.
As autoridades públicas, textualmente Gachkel, fizeram estudo aprofundado na questão era urgente achar uma solução ra a crise
escreve um
pae concluíram que a causa residia na forma da própria economia rural, notadamente na exis tência do minifúndio, e, enquanto as terras permanecessem extremamente divididas em vinte e cinco milhões de estabelecimentos, não se podia espe rar nenhuma melhoria na produção. Para elevar o nível da produção agrí^ ^ cola, era preciso começar a concenti-aij; ção de terras’'.'
Pela leitura meditada desses estudos, chega-se à conclusão já enuncia da — o minifúndio em determinadas condições é antieconômico e consti tui um fator de êxodo rural.
A exigüidade do solo não permitin do ao camponês tirar daí o seu sus tento, leva-o a abandonar a sua peque na propriedade, alugando-a, arren dando-a ou vendendo-a e tornando-se assalariado. Opera-se, em conse- um
qüência, o movimento de concentração de propxnedades.
V' ’«1*
E foi o que se fêz com as. grandes explorações agrícolas chamadas KOL; KHOZS e aOVKHOZS.
U
tensão.
U jáà
,T * Digesto Ecünómii Y> 98 ‘
t í
i ' À ' í
<(
,1
Em NOVIS, existiam em 1914 vin te e oito (28) estabelecimentos rurais que, em 1940, se concentravam em quase um têrço, isto é, apenas de* (10). Dos vinte e oito estabeleci mentos rurais existentes em 1914. dezenove (19), isto é, dois terços que possuíam área menor de dez hecta res, ficaram reduzidos somente a dois! (2). Em 1914, havia um único esta belecimento com área maior de cincoenta hectares, enquanto em 1940 contavam quatro (4) com essa ex- se ■(í '●t
o ano passado, HENRI MENDRAS trouxe preciosa colaboração a êste as sunto, com a publicação de seus ÉTUDES DE SOCIOLOGIE RURA-
Assim, a concentração, escrevo H. MENDRAS, das explorações so faz juridicamente de duas maneiras.
quando o habitante do Novis deixa a terra, ou pela venda, ou pelo alu guel a um vizinho. Vê-se um pequeto proprietário de oito hectares ex plorar setenta e dois que alug^a de antigos vizinhos, especialniente irirmãs também com direito ao oâos e
patrimônio familiar, mas que dêle podem viver, dado sua exigüidade, confiando a exploração ao únimembro da família que fica fi xada à terra”.”
&ao
CO pr rança
Conhecedores das desvantagens do minifúndio, o sistema de sucessão -aticado pelos moradores de Novis infere o quarto disponível da neao primogênito ou ao que percamponês. Isso se faz no de casamento ou no testa-
fljanece contrato
Nota-se nessa aldeia que o pa drão de vida do camponês não depen de da condição de ser proprietário de terra, do slogan tão em moda en tre nós de “pertencer a gleba àque le que a cultiva”. A distinção, nos ensina H. MENDRAS, entre pro prietários e assalariados é, em mui tos casos, imprecisa e a gama das situações se escala do proprietário que não trabalha senão pai*a si, ao assalariado desprovido de qualquer bem.”
mento, dando-se as filhas sua parte dínheirO;^ sempre que possível, propósito de resguardar a uni do patrimônio territorial. Êsse ~ocedimento, partido de homens rústicos uias práticos, se alicerça não fantasia de letrados teóricos objetividade da vida, de suas coneconómicas e situações soí
ém com o dade mas na na junturas
ciais.
ando dum continente a outro, aldeia francesa à americana VIRGIN, em Utah, com terra e história e religião, estrutura comportamento coletivo tão
pass duma de gente, tocial 6 j, - j , diferente, o fenomeno do desapareci do minifúndio ante a concen- mento tração de terras se verifica igual mente.
De 1934 a 1961, informa lí. MEN

DRAS, 0 número de estabelecimen tos rurais em Girgin caiu de vinte e três (23) a dezoito (18), enquan to a área média das terras explora das aumentou de quatro e meio (4,5) para sete (7) hectares.
raçao na 1 rurais. permitem fazer
com pagamentos à vista e que, p dendo comprar terras, se recusam a fazê-lo, achando mais vantajoso o sistema de parceria.
As razões são óbvias: nao pa^rao pesados impostos territoriais; não cuidarão da conserva da propnedade, sempre onerosa; usarao das melhores glebas para o plantio, com faculdade de trocá-las de quatro em quatro anos; seus animais terão pasto gratuitamente; o contrário su cedería se fossem proprietários, ads tritos por tôda vida ao mesmo chão cuja feeundidade sè esgotaria com os facilidade de troeá-lo
a anos, sem a
por outro mais ubertoso, como suce de no sistema de parceria.
Citando HENRI MENDRAS devo
C:';eí>to Econômico 99
A posse de terra não é imprescinprosperidade do camponês do trabalho. Conheço no divel à amante Triângulo Mineiro famílias de plan tadores de arroz, já na segunda gej de lavouristas especializados “izicultura, tendo assim tradição, fator da mais alta importância para o êxito nos empreendimentos conhecedores da técnica^ e pratican do a mecanização, possuindo apreciá veis depósitos bancários que iftes tôdas suas despesas
informar que seus estudos não visam defesa de nenhuma tese, são rela tos impessoais, fotografias escritas, e, por isso, justamente chamados de contribuição à tipologia das comuni dades rurais.

Outro ponto perigoso ao êxito do empreendimento é a taxa de juros, pois a Caixa paraibana tomando a 9% (nove por cento) mais o acrés cimo de uma comissão bancária, te rá que os cobrar à taxa mais elevada.
É sabido que as explorações agro pecuárias rendem juros muito mó dicos, inferiores e menos seguros que os dos investimentos imobiliários.
Outro ponto delicado será o das
benfeitorias”, assim chamadas as casas de residências e demais insta lações. Devem ser higiênicas porém bem modestas, pequena parcela do empréstimo a ser concedido aos lavi'adores, reservando-se a maior par cela dêle à ten*a e aos instrumentos de produção.
O empi*eendimento precisa ser cercado de todas as cautelas imagi náveis para atingir seguraniente ao êxito, não se devendo esconder as di ficuldades e responsabilidades que o cercam, estas tanto maiores quanto mais avulta a magnitude da expe riência social que se vai fazer.
DiOUSTO liCONÒMlC*! ^ 100
a
LATI
GoMKS
O Brasil
O general Iberê de Mattos, grande siderúrgico, em “Companhia livro técnico
Siderúrgica Vitória-Laguna ”, publicado em 1953 e repleto de dainteressantíssimos, mostra-se otimista quanto ao futuro da dos muito

■ indústria do ferro e do aço no Br Afirma ter ouvido dc um ennheiro norte-americano, especialis-
^ ern aciaria, palavras muito con' f rtadoras e até surpreendentes sô-
destinaçâo histói*ica, e que os homens v dessa época distante irão tentar, .'j inutilmente, uma explicação para' o ^ marasmo contemplativo dos homens 'j de hoje, sem poderem atinar com os motivos que justificaram a lamenta-^' vel política de hesitações dos que dis- * punham de 15 bilhões de toneladas de minério de ferro e sabiam que o resto do mundo se debatia numa crise anjíustiosa de minérios ricos aço.” e de ^
o maior depo”
* K o nosso futuro siderúrgico. Tevh^ia dito o técnico estadunidense que g^gjl estaria “condenado a ser o produtor de aço do mundo, indendo tal fato do maior ou meentusiasmo dos brasileiros pelas hShantes perspectivas que isso regenta, e isso porque as condições Pf® impressionantemente favo-
*A°eis, Qoe surgira aqui o maior pargidcrúrgico do mundo com a esI ^^^taTicidade das coisas determinaP®** pelo destino, com a mesma faciÃadc com que, em pouco tempo, o p raná se tornou uin grande produ^ de café. Achei interessante a aração com o desenvolvimento
aíil. tor comp
, da lavoura de cafe no Parana, porque realmcnte não houve necessidade de estímulo oficial ou de grandes inves timentos, surgindo a produção unica mente pelas condições favoráveis de terra adequada ao plantio.
Acredito, em face do vulto que a^ siderúrgica está rapida-^ indústria mente tomando no Brasil, que as he-“j Hoje,-o governo sitações cessaram. nacional e os particulares acreditam J nas extraoi-dinárias possibilidades da siderurgia nacional, que já se fêz e o muito que se esta ‘J fazendo. Vejamos em que consistem possibilidades siderúrgicas de nos- } país, embora muito pei'funtòria- ,
Daí o bastante ; as so mente.
Conforme o ilustre técnico Luciano Jaeques de Moinais, conhecidas em várias partes ^ do Brasil, principalmente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso," Goiás e Bahia e no território do Ama--\' pá. Há ainda reservas bem pequenas alhure.s, as quais, ao que se sabe no w presente, não podem ser consideradas W para a base de uma grande siderur-' ” gia ou para a exportação em larga escala.”
E acrescenta: “Dizia-me êle que surgirá um dia no futuro, como
j» uma isso realidade c com a fôrça de uma pre-
as jazidas de fer- \ (I vo sao as re-
Em Urucuni, Mato Grosso, servas de minério com teor ligeira- nS mente acima de b0% são avaliadas
I^^^RGIA NA AMÉRICA
j r. P V ;■
lMENTKI,
IV ., 1
em 1,200 milhões de toneladas. “Talvez 10.000 milhões de toneladas de material eluvial formem um manto nas encostas das montanhas da re gião. O teor deste minério deve ser í’ superior a 60%. Otávio Barbosa **■ ainda considerou nas outras exposi ções em derredor do morro do UruI cum reservas de talvez “50.000 miIhões de toneladas de material ferruginoso”. Não se fêz amostragem sis temática nem mapeamento da jazida, pelo que ainda não é considera■ da no computo total que apresento adiante. j»

Há um pequeno alto-fomo a carvão de madeira em Corumbá, utilizando com bom resultado o minério eluvial.
Há muito minério de feiTO de óti ma qualidade em Minas Gerais. O Prof. Luciano Jacques de Morais ava lia os depósitos existentes no centro da província em 15 bilhões de toneladas. Existem enormes quantida-
^ des de minérios com teor equivalen- te a 66%. Há ainda muito minério de boa qualidade em outros pontos de Minas Gerais.
As principais reservas de minério de ferro da Bahia ficam situadas na região de Sento Sé, nos lugares Pe dra do Ernesto, Tombador e Tapera, no vale do São Francisco. Conside-
rando apenas os minérios mais ricos, há 40 milhões de toneladas prováveis na serra do Tombador. Em Ernesto existem 3 milhões de toneladas. Há outras jazidas em Caetité, Urandi, Jequié, etc..
Em Goiás, já descobriram várias minas de ferro. A uns 100 quilôme tros ao norte da cidade de Pirenópolis há uma jazida que contém no mí nimo algumas dezenas de milhões de toneladas. Há outro grande depósi to a 18 quilômetros de Pirenópolis, entre São João e Cuba. Há outras minas em Catalão e em outros muni cípios.
No Ceará, há várias pequenas miEm Itaúna, perto de Chaval, nas.
p
*‘al
rí/lílííí/ifrliii 1^
zam-se
município de Camocim, há uma ja zida com 100 mil toneladas. Há ou tras que somam umas 60 mü tonela das. Há ferro em outros municípios. Os principais depósitos de mi nério de ferro de São Paulo localino morro do Serrote, na re-
do.
T-7 7:7-», 102 Dicesto Ecoxómii
U
jí <4
U
No Amapá, encontraram 110 mi lhões de toneladas de minério de fer ro com um teor médio de cerca de 60%. gião Juquiá-Registo, no sul do EstaEstimam-se as reservas em 500 mil tonela das de minério visíveis e 2 miIhões de toneT-
adas prová£m Ipa. veis.
r●f.^ ' üMi 5T3: 3^
nema, deve ha ver um milhão de toneladas de magnetita, com elevada porcen tagem de titâ nio e fósforo.
Associados à magnotita há depósi tos de apatita.
Existem no Paraná três distritos ferríferos; o do litoral, com as prin cipais jazidas localizadas por detrás da baía de Paranaguá; o de Rio Bran do Sul e CciTo Azul, ao norte de Curitiba; o de São José dos Pinhais, borda do planalto do sul de Curi-
tiba. As possanças são muito peque nas: 100 mil toneladas em Riò Bran co do Sul: 1.500.000 toneladas em São José dos Pinhais; 500.000 tone ladas em Antonina.
CO oa
O Prof. Luciano Jacques de Mo rais assim resume as reservas pro váveis de minérios de ferro no Bra sil, em face dos atuais conhecimentos:
Minério compacto com mais de G6% de forro 5íínério friável com mais de üG% de ferro Minério com monos de GG% c mais de 60% de ferro
Minério com menos de G0% c mais de 50% de ferro
M inério com menos de 50% e mais de 30% de ferro
600.000.000 de toneladas
250.000.000 de toneladas
500.000.000 de toneladas
2.000.000.000. de toneladas
36.000.000.000 de toneladas
aa sii e”! cmo
Avalia-SG melhor a riqueza do Br minério de ferro comparando-a de outros países, de acordo Recursos Mundiales en Mineral
de Hierro y su Utilización
, mono-
jfraíía publica pela Unesco: Canadá, ●j30 milhões de toneladas prováveis; com 487o de teor; Estados Unidos, 1 700 milhões de toneladas, com 457o dc teor; Chile, 43 milhões de toneladasl CO"' México, j8D milhões de toneladas, com 61% de teor; Alemanha, 266 milhões de toneladas, com 32% de teor; Espa nha, 360 milhões de toneladas, 45% de teor; França, 2.646 milhões de toneladas, com 38% de teor; Po lônia, 21 milhões de toneladas; ReiUnido, 672 milhões de toneladas, 287í> de teor; Suécia, 1.408 mi-
com no com
IhüDS de toneladas, com 647? de teor; Iugoslávia, 26 milhões de toneladas, 47% de teor; Austrália, 126 mi- com Ihõea de toneladas, com G0% de teor; União Sul-Africana, 1.275 milhões de toneladas, com 47% de teor; Chi-
na milhões
, 810 milhões de toneladas, com 45% de teor; índia, 5.608 milhões detoneladas, com 60% de teor; Indoné sia, 49 milhões de toneladas, com 49% de teor. Portugal tem cerca de 50 de toneladas de baixo teor.
As reservas carboníferas brasilei ras conhecidas não ultrapassam niuito os cinco bilhões de toneladas. não tem Ê A França pouco , porém, - suas jazidas ofegrandes dificuldades à exporAdemais, começam a dar siNossas minas são Ainda temos dea céu aberto, conhecemos
, reservas maiores e recem tação. nais de cansaço, muito mais novas, pósitos explotados Acrescente-se que pouco da geologia brasileira. Existem, por exemplo, duas grandes faixas carbo níferas, uma ao norte e outra ao sul do rio Amazonas. La e alhures tal vez ainda tenhamos surpresas agra-

dáveis.
Possuímos carvão coqueificável em Santa Catarina. O Japão, que foi
ÜiGtsTo Econômico 103
yt
i' uma grande potência, não tem car' vão que dê coque. O general Iberê de f' Mattos, em “Companhia Siderúrgica Vitória-Laguna’', estuda tècnicamente a conjuntura da hulha brasileira. Diz como baratear consideravelmente o carvão e aumentar a produção.
Atualmente se executa um plano de / fomento que quase duplicará a atual '1 produção € reduzirá sensivelmente U-; as despesas de explotação e transport te.
? A nova técnica siderúrgica — sideí' ração, energia hidrelétrica, etc.
vão de madeii-a. Naturalmente outras providências deveríam ser toma das. Há, a respeito, um estudo muito interessante do engenheiro Giannetti.
Temos mais manganês que todos os outros países americanos juntos. Não nos falta calcário. Não nos faltam as outras matérias-primas utilizadas na fabricação de aços especiais.
o consumo de co-
\ ■ permite reduzir considemvelmente, jí. a menos de 50%
' ■ que por tonelada de aço fabricado.
T' , Resta-nos ainda a possibilidade de ■ trocar hulha por minério de ferro e ■í' empregar numa escala maior e com uma técnica mais perfeita o carvão ' ' de madeira. Desde que se faça o reflorestamento sistemático, é possível me lhorar sensivelmente a situação eco nômica das usinas que utilizam car¬
A indústria siderúrgica brasileira é muito antiga. Vem dos tempos co loniais, mas só nos últimos lustros tomou impulso, depois de vencer gaIhardamente umas tantas dificulda des. Em sua quase totalidade se lo caliza nos estados de Rio de Janeiro. Minas Gerais e São Paulo. Também figuram nas estatísticas side rúrgicas, embora em escala muito menor. Mato Grosso, Espírito Santo Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em 1951, a produção assim se dis tribuía pelas diversas províncias:
Quanto ao valor, o ferro-gusa pro duzido no Brasil, em 1952, valia
V Cr.$ 1.199.398.000; o aço,
Cr.$ 1.713.092.000; os laminados,....
Cr.S 2.777.398.000.
Vejamos a produção siderúrgica brasileira em 1952 e 1953:

1, T-ff I 104 Dicksto Economicí
I.
ri 1
Laminados Toneladas Aço Toneladas Estados Gusa Toneladas V 4.233 207.767 4.015 163.565 Pernambuco Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo . Rio Grande do Sul Mato Grosso Santa Catarina 345.663 6.062 385.138 68.483 401.868 138.504 10.031 514.019 165.739 399 6.197 618 1.386 893.329 719.369 811.543
>
BRASIL
Houve um progresso, embora peNota-se a tendência da sidequeno.
está ulti- se trabalha atualmente
Qtito de algumas usinas sidenárgina instalação de outras.
no au- neira, em mando uma expansão considei*ável.
^ Volta Redonda, em tei-ra fluminen se inaugurou, êste ano, grandes ins talações que pràticamente lhe dupli caram a produção e se lançou açoda damente em novo plano de expansão do milhão de toneladas de aço. Já O Congi-esso — o está sendo executado.
Passará a produzir 250 mil tonela das de aço, em vez das atuais 140 A Acesita, em Minas Gerais, mil.
aumenta consideravelmente suas insEm 1956, deverá fabricar talações.

au-
Kacíonal votou o indispensável mento de capital. Em 1956, Volta Re donda deverá estar produzindo um milhão de toneladas de aço. Poderá comparar-se às maiores fábricas si derúrgicas do mundo. A Belgo-Mi-
126 mil toneladas de aços especiais. Em Vitória, Espírito Santo, a peque nina usina que por lá existia agiganProduzirá, êste ano, 40 mil ta-se.
toneladas de aço, e dentro de dois anos, 600 mil toneladas. Em Lafaiete, Minas Gerais, montam fábrica de aços especiais, cuja capa cidade se elevará a 150 mil tonela-
uma nova
r Dicesto Econômico 105 1952 Toneladas 1953 Toneladas Produtos 893.329 1.001.997 8.439 878.843 832.833 Aço em lingotes Aço e ferro fundidos Gusa Laminados Ligas de ferro de baixo carbono Ligas de ferro cromo Ligas de fei*ro manganês Ligas de ferro silício Ligas de ferro silício manganês Ligas de ferro Spiegel 811.544 719.369 145 884 6.149 4.600 2.699 6.173 3.875 696 518 rurgia
para a diversificação. Veja mos, agora, quanto ao valor.
r Valor em Cr,$ 1 000 1952 1953 I Produtos J i 2.032.990 97.218 1.401.812 3.405.435 3.423 4.005 26.478 20.487 10.354 1.230 j^ço em lingotes ferro fundidos Aço e 1.713.029 Gusa Laminados Ligas de ferro de baixo carbono Ligas de ferro cromo Ligas de ferro manganês Ligas de fei*ro silício Ligas de ferro silício manganês Ligas de ferro Spiegel 1.199.000 2.775.398 24.113 19.449 i 2.231
Gerais,
Minas
m
sam fases de expan.são.
Há duas novas iniciativas interes¬ santíssimas.
Uma delas c a usina siderúrgica do Amapá. Ficará sob a liniia equinocial, contrariando tódas as idéias que ainda hoje tém tardígrados europeus e norte-americanos sóbre as possi bilidades econômicas da zona equa torial. A usina aproveitará um con junto de fatores favoráveis. Existem nas proximidades pelo menos 110 mi lhões de toneladas de minério de fer ro de primeira ordem. A segunda grande jazida de manganês do Bra sil e da América — 24 milhões dc toneladas — fica no Amapá, muito calcário. A energia será for necida pelas cachoeiras do Araguari. O governo do território já está ins talando uma usina de 33 mil cavalos a vapor de força, na cachoeira do Paredão. O carvão de madeira será proporcionado pelas imensas flores tas da região.
tão orçndas cm Cr.$,80 milhòcfi. Se rão custeadas pela SuperintfndOnciu do Plano <lc Valorização lOconómica da Amazônia, que dispõe íle fundos vuUosÍHsimos.
das anuais. A Mannesmann, cm Belo Horizonte, estará com sua usina con cluída no segundo semestre déste ano. Passará a fabricar 100 mil toneladas de tubos de aço sem costura, por Várias outras usinas atraves- ano. O aço do Amapá poderá ser indus trializado no iirójjrio terrU<»rio ou en viado para outras regiões brasileiras. Cerlamentc surgirão fábricas meta lúrgicas nas terras brasileiras do he misfério setentrional.
A outra iniciativa, da autoria do general Iberé .Matto.s, õ o Coml);nado Vitória-I.aguna. 'J‘rata-sc da insta lação dc duas usinas dc aço, .se situará eni Vitória, perto das i Uma ja¬ zidas dc ferro e fabricará 900 mil to neladas de aço anualmentc. A outra f V ficará em Laguna, entn* as catarinenses de carvão, c fabricará 450 mil toneladas de aço.

A usina dc Vitória terá:
minas U para
a de.scarga dc carvão c carga de produtos da usina.
f í.
3 — Altos-fornos com duas unida des, cada uma com capacidade dc mil toneladas em 24 horas.
4 — Aciaria, com uma capacidade anual para um mínimo de produção de 900 mil. toneladas dc aço em lingotes.
»
i'
Cr.$ 10.000 a
O projeto, de autoria do engenhei ro Raul Valdez, consiste em dois pe quenos altos-fornos a carvão de ma deira, com a capacidade total de 80 toneladas por dia, umas 30 mil por ano. Consumirá, anualmente, 60 mil toneladas de minério de ferro, 900 toneladas de minério de manganês, 32 mil toneladas de carvão de madei ra e 12 mil toneladas de calcário. A usina deverá fabricar ferro-manganês, liga caríssima tonelada — aproveitando para ener gia hidrelétrica. As despesas es-
üi(i»>7n K< nsÚMico 106
Há
1 — Instalações portuárias I
2 — Coqueria c usina de subprodu tos do carvão com caj)acidadc corres pondente à destilação dc l.OUO.OüO do tonclada.s dc carvão.
r, í
í
5 — Laminação com capacidade anual para um mínimo de produção dc 700.000 toneladas de laminados, devendo ser fixada a discriminação das Unhas de produção cm conjugacaracterísticas da lami- çao com as
nação do conjunto de Laguna, de mo do que sejam instalações complemen tares, isto é, se uma fôr preparada
para a produção do chnpna, u outra «crã projVtadn pnra u produção de piTÍiH posado».
('»
— Kâbrica do cimento siderúrífico com capacidade anual do produção dc T.OíMbOüO do .'^acos.
Não c prevista nenhuma usina ge radora <le energia om virtude do pro jetei da usina hidrelétrica do Uio Bo nito, uma iniciativa do atual govérno do Kspirito Santo."
.-\ usina do Laguna terá: I nstalaçòe.s portuárias pnrii de.scarga do iniíiério e cargas dos j>rodulo.s da usina.
devendo scr fixada a discriminação das linhas dc produção em conjuga ção com as cnractoristicas da laminação da usina de Vitória, de modo que sejam instalações complementa res.
0 — Usina termoelótrica dc 20.000 k\v na fase inicial.
Fábrica de cimento siderúr gico com capacidade anual dc pro dução dc 3.500.000 sacos".
10 O combinado custará cerca de tres bilhões de cruzeiros. Temos dinhei ro mais que suficiente para instalar mais estas usinas siderúrgicas, general Iberc de Mattos propõe a
O ●> carvao
U.sina do beneficinmento de com capacidade anual de organização dc uma sociedade mista, Há uma lei federal aprovando a cons trução das usinas. Infelizmente, os congressistas e governadores das duas províncias mais interessadas
2.'1()0.00() toneladas, produzindo . . .. ●100.000 toneladas do carvão metalúr¬ gico, ].l.51.000 toneladas de carvão de vapor e 22.000 toneladas do car vão para eon.sumo local.
Usina do boneficiamento do 3 refugo piritoso.
Usina de enxofre com capa cidade de produção n ser fixada, sendo mínima a de 00.000 toneladas
4 de enxofre.
5 — Coqueria e usina dc subpro
dutos do carvão com capacidade cor respondente à destilação anual de.. 400.000 toneladas de carvão meta lúrgico.
Alto-forn.0 com capacidade de 1.000 toneladas em 24 horas, com a alternativa de altos-fornos com ca pacidade de 500 toneladas de gusa em 24 horas.
7 — Aciaria com capacidade anual para um mínimo de produção de 450.000 toneladas de aço em lingotes.
Laminação com capacidade anual para um mínimo de produção de 350.000 toneladas de laminados.
● Espírito Santo e Santa Catarina —● têm dormido no ponto, como se diz na expressiva gíria carioca. Não se mexem. Não fazem força. Não agem. Em conseqüência, a lei não se cumpre e continuamos privados de mais duas grandes fábricas de ferro. É lastimável.
Apesar dos pesares, progredimos. Êste ano, deveremos fabricar cerca de 1.300.000 toneladas de 1.400.000 toneladas de em 1957, fabriquemos 2.000.000 3.000.000 de toneladas de duplo em 1960 ou no ano seguinte. Nesta época, se não houver dificação no atual ritmo de cimento, a China produzirá mais aço que a Grã-Bretanlia, a índia mais que a França e a Polônia tanto quan to a França. Isto significa que não podemos^ perder tempo. Faz-se mis ter um grande esforço.
gusa e ço. Talvez a aço e o mocres-

Ou-i.sro Kt:oNÒMico 107
“ 1
i
G 8
BwUSAUD I*AJliTE
1. — Kclaçüe» de coordenação e de subordinação.
A noção genérica de controle, apli cada às relações possíveis entre diI versas sociedades comerciais, indus triais ou financeiras, toma diversos aspetos em relação com u natureza ou o grau das ligações consideradas.
Com referência às empresas cujos títulos se compram, podem conside^ rar-se vários graus de influência e não será exagerado dizer que o con trole difere e toma diversas formas, passando mesmo a ser uma função subjetiva, porque depende das pes soas que a exercem, como também dos dirigentes das sociedades con troladas; Nesta comple.xidade de formas e modalidades de controlo, é possível distinguir várias grandes ● categorias, em relação com uma W' ideia-mestra ou uma forma determinada aplicada.
A definição de Louis Janin sobre as sociedades de controle é aceitável, porque mantém as características mais gerais (1):
Pode designar-se sob o nome ge nérico de sociedade de controle qual quer sociedade que adquire títulos do uma ou de diversas outras empre sas com a intenção de beneficiar-se da influência atribuída à posse de títulos.
Mas, como já o dissemos alhures, ■ a noção de controle pode mesmo ir
além doH liinitc:i prcvislo.s pelii defi nição menciomula (2). A posso de títulos dt? uina c-mprt-.-a i>odi- ussctfurar a uma companhia uina espcciü de contrôlc, mas podo cün.sejfuiresta relação por outros meios, quo não a j>osse <le açóes. Km outros térnios, a posse de tiluloji não repre senta a modalidade única paru reali1*0» »-xcmplo, os cré- zar o coiitróh'.
ditos, a utilização pola companhia A. l)revot” i)ertonronto à de um sociedude li., o.H acordos para ü aprocriam visionamonto om comum, etc., (le coonltuiaçâo ou também relações de .subordinação entre essas diversas omprésas, o que implica, de certo mo do, a idéia liásica de contrôlc.
No imenso e conij)lcxo doniinio das relações comerciais, industriais ou fivariedade das relações que se estabelecem entre diversas empresas é tal, que e difícil fazer distinções precisas.
nanceiras, a i Para chegar a conseguii’ diversos de influência .sôl)re corta em presa, nosso sistema econômico co nhece os seguintes caminhos a se guir: o meio de possuir ações du em presa considerada; conseguir a coo peração da me.sma por outros meios, dos títulos. Evidentemen-
graus que nao o te, os dois meios indicados podem ser aplicados também conjuntamente: tu do depende do grau de influência que se deseja.
Há casos em que as relações entre
(2) "Os Holdlngs-Companhias e o Investlmonto". "Digc.sto Econômico”, n. 109, dezembro de 1953. pàgs. 186-193.

\ r. : /; / V i V
L
i
r I N I l \ I* ■i 1 U í ● I I,
(1) Louis Janin, "As Sociedades de Par ticipação”, Recueil Sirey, Paris 1928, pág. 71.
Á
i
as duas emprC .simpler. direito dc observação; nesta hipótese, basta também a posse de alf^umas ações, que permitam a seus titulares tomar parte nas assembléias eonhecer a evolução seguida tí u situação
resumem om gerai.s u pela referida empresa,
maioria absoluta de açôos de uma certa empresa assegura tal moda lidade dc controle.
Estas très modalidades de contro le se verificam, portanto, através da posse de títulos da companhia sôbre a qual se deseja exercer sua influência; a posse de uma quanti dade de títulos assegura diversos de influência e a subordinação função quantitativa dos títugraus e uma
da emprêsa, (jue pode apenas assis tir à.-^ deliberações dos grupos majoritarios d«* acionistas de uma outra sociedade, à qual não está om condidc impor seus próprios desejos çoe.s los possuídos. (iecisòe.s. A coordenação das relações entre diversas empresas não constitui, via dc regra, a conseqüência de uma par ticipação nos títulos de outra socie dade. Esta coordenação pode ser as segurada também por outros meios diversos da posse de títulos e pen samos, que é justamente a utilizadessas duas mecânicas diferen- çao

ou outra iiipótese, a companhia Km (lue (le.seju exercer certa influencia .sobre u vida de uma outra sociedanão .se contenta com esta posipassiva, não quer apenas assisdeliberações das outras, mas, pretende participar
cie, çao tir às pelo contrário, das discussões relativas aos negócios Ü objetivo de possuir uma correntes, tes nas relações das empresas, qiic estabelece as relações de subordina ção ou coordenação.
voz, que possa ser ouvida por ocasião das' deliberações da direção da comcontrolada, pode verificar-se panbia
através da posse de um numero su ficiente de títulos, fato que dá o di reito do nomear pelo menos um ad ministrador no seio do conselho des sa emprêsa.
No quadro do segundo exemplo encarado, pode nianifostar-se uma deliberações da direção opinião
da emprêsa controlada, mas não imvontade ou sua opinião. Es-
nas por sua posição piávilegiada só pode se concretizar atra vés da posse de número sufi
ciente de ações, de maneira a impor outros acio-
ta um aos
nistas seus próadministra- prios dores. A posse da
Evidentemente, uma participação nos títulos de outra sociedade não im pede a realização das relações de co ordenação entre duas companhias. Contudo, coordenação resulta da utilização de outros meios de influência. A posse de ações implica a noção de subor dinação, enquanto que a coordenação é a conseqüência da aplicação de to dos os outros meios, através dos quais se exercem diversos graus de influência sobre emprêsa conside rada.
em nossa opinião, esta a
Mas, é necessá rio indagar por
[ 109 Oi‘ ‘ ● í‘*
I
2. — O objetivo do controle e seus limites.
que razõea ae procura o controle daa empresas. Eis um problema muíto delicado, que até a^i^ora não teve umu resposta satisfatória c cxi.stcm muito poucas possibilidades de entrever um acordo entre os economi.stas so bre essa questão.
O objetivo econômico de uma participuçuu nos títulos de outra em presa ou de uma ação de coordena ção das atividades de duas ou várias sociedades deveria ser — dentro da boa lógica
a idéia de assegurar
uma li^fação capaz de j^arantir me lhor orífanização da produção ou da distribuição. Melhor oríjanização em que sentido? Aqui é que começam as divergências.
De um ponto de vista objetivo e é incontestável, que a noum científico, ção de coordenação rcpre.senta imperativo para nosso mundo indivi dualista e atômico: o encadeamento social não é pcssível se .se faz abs tração da idéia de cooperação.
A idéia de uma melhor organização é confirmada pelas atividades de ordenação ou de cooperação entre di versas
formas de entendimentos dem, algumas vêzes, sociedades.

coemprêsas c pelas diversas que succna fusão das
dc vista social. A instituição da priedade prívuda, aplicada sob n for ma mobiliária e utilizando a mecânica
c< mplexa e oculta do emprénas, se IransfíO mou, vézes. num perigo para a democrática d<‘ m- ;.a viíia
1'aí.ses com indisfarçávi-I
pro-
eonlrôlo dns algumas evolução económicn. earaler caa inquo ●■^"eial destas
I)italista se viram obrigados tervir, para e xtirpar ê^^se câncer, ameaçava o eíjuilibrio nações <■ hoje as leis antitrustes têm uma aplicação (piase geral.
que a pe.ssoa
amindivipiruser
A meeánica eapitaü.^ita do vontrômo- le das K< eiedades impliea, dêste do, também a i)ossibilidado de j)liar o potencial eeoíiónuco dual em tais dimonsõe.s, mide das eomi)anliias, <iuo jjode dirigida por uma liniea por um grupo dc cidadãos,
, podo tor-!VO tio uma
!● ou
u
ou instrumento oprossi nai--se um resto da nação, ou ao nieno.s, de grande parte desta. ●: o excesso, o perigo <|ue é necessário evitar todo j)reço.
contrôle como ponto de por
a
as emprevêzes, aos posições doeconomias
Infelizmente, a mecânica do contro le das sociedades nem sempre leva resultados positivos. As diversas modalidades de controlar sas facilitaram, algumas inúmeros interessados, minantes no quadro das nacionais e mesmo na da internacio nal, que serviram, exclusivamente, a seus interesses
pessoais.
0 indivi
dualismo “à outrance’* fez conquistas inadmissíveis, encaradas sob o ponto
Conhecer a mecânica do das sociedades se aprc.senta uma necessidade, tanto do vista estritamente econômico poder estabelecer a melhor forma de cooperação c dc organização das empresas privadas — como também do ponto dc vista social — para evi tar ação excessiva do espírito indi vidualista da empresa privada .sôbre os interesses sociais ou gerais.
O sistema econômico socialista caiu no extremo contrário da mecânica do controle das empresas. Tôdas as empresas que funcionam no quadro da economia socialista pertencem e são controladas pelos representantes da mesma. O controle torna-se to-
110 I>ic;i.s'ro Kt(isÓMim ●*
5
As leis do plano pre.screvem valores como se a diniecanu-a
Ela os V que a constitui a
tul c forçosnmcnte discricionário. As CMnprOsus du busc da pirâmide não levam uma vida cconòmicu própria üu independente, elas executam or dens nu quadro de uma disciplina mi litar, quantidades e nâmiea econômica traduzisse uma matemática controlável, faz ab.stravão do fato, do que sujeitos econômicos são sères hu manos com fòrva de trabalho, dese jos, apetites c interôssos individuais variedade ó um atributo que prôjjria natureza destes
processos. representa, portanto, mecânica realizada sob difereno fim desta mecânica
O conlrôle uma tos forma-s; varia conformo o sistema econômiquadro cm que funciona. O CO, no controle ihis empresas pode reforçar planismo a ação interven- até ao
cionista do Estado socializanto o po de, também oferecer uma base mais social para melhor organizar os inatômico.s da economia capiÊste instruterê.sscs talista individualista, de organização das empresas monto pode servir e pode causar dano; isto depende em que sentido, com que fim é aplicado. O fim do controle esta belecido indica as qualidades ou os defeitos desta mecânica econômica, do uma aplicação complctamente geO que não se deve jamais esé encontrar o bom caminho deixar transformar esta
ral. quecer para não modalidade da organização das emmecânica desumana, presas cm uma
que possa tornar-se o instrumento discricionário de uma vontade única e incontrolável,. independentemente, trata de um indivíduo ou de um se se Estado impessoal.

3. — rarticiimçâo vertical.
Nu matéria do controle das socie dades, a classificação quase cm go rai açoita é a (luo examina as rela ções possíveis nos dois sentidos: ver tical 0 horizontal.
Eis cjn que tèrnios define Louis .lanin estes dois casos de partici pação (3):
“Sc SC procura classificar metòdicamente os principais casos da apli cação prática da participação — re lação c da participação — controle, pode-se cstiibelecer uma distinção conforme a situação respectiva de uma e de outra sociedade na hierar quia das relações econômicas. A par ticipação pode ser qualificada de quando intervém entro duas empresas que são tributárias uma du outra, porque a atividade dc uma ó o complemento econômico da atividade da outra. Temos, ao con trário, o caso do uma participação “horizontal”, quando as duas em presas examinadas se dedicam à mesma atividade econômica”.
vertical
A participação vertical e o res pectivo controle intervém, portanto, entre diversas empresas que têm uma atividade econômica complementar. Como exemplo, citaremos uma fábri ca de papel que é obrigada a pro curar matéria-prima em uma outra fábrica, que produz e vende celulose.
No quadro deste exemplo, exami naremos algumas das relações possí-
Em uma primeira hipótese, veis. usina que fabrica o papel pode encon trar fàcilmente no mercado nacional todas as espécies de celulose de necessita. O controle vertical entre
a que a
m líu.i-s I o KcnsÒMico
(3) Louis Jai^n, op. cit. pág. 72.
fabrica de papel e a uaína de celulose poderá ter como razão o desejo da primeira companhia em receber as> sim também um lucro sôbre o preço da matéria-prima que usa. Porém, a celulose não é sempre fãcilmente achada, sobretudo nos países tribu tários desta importação, como será o caso do Brasil por ainda um bom número de anos. Quando, portanto, a produção nacional da matéria-pri ma é deficiente e as fábricas de pa pel são obriíjadas a disputar entre si quantidades insuficientes de celulose, é evidente que toda fábrica de papel esteja interessada em exercer certa influência junto aos produtores para assegurar, desta maneira, uma capacidade total de fabricação. Kvidontemente, os contratos de forneci mento desta matéria-prima serão mais reforçados e dobrados pela pos sessão das ações da usina de celulo se. A prioridade dos fornecimentos, a segurança de poder obter todas as quantidades necessárias da celulose, certas bonificações sôbre a tarifa ge ral da venda desta matéria-prima e mesmo os dividendos interessantes que uma tal fábrica pode oferecer a seus acionistas, representam incenti vos para desejar o controle de uma tal sociedade.
Além disso, quando a balança de .pagamentos do país não permite uma importação fácil, ou uma competição normal entre os produtores nacionais e estrangeiros, o exercício do con trole de uma fábrica de celulose tor na-se mais imperativo para os acio nistas da usina de papel.
Em uma situação inversa, que po de se apresentar nos Estados Unidos ou Canadá, Suécia, Noruega ou Fin lândia, todos países exportadores de
celulose c pupel, é a íábrica dc celu lose (}Uo terá interc* uma espécie de controle .-lóbrc fábrica de papel, para poder colo car automáticaniente .nja
em vxercer uma produção, eiifraqueci- mesmo no.s período.^ d»r mento da exportação da celulose.
O contrúle vertical pmKccr-se até através da.s finuífirjig e muitos inve.stimí*nto... e.-itraiigoiros realizam com êsti- objetivo:
estabeleSC estabe lecer íJin certo degrau de influência .sóbre as empré.sa.s cuja atividade é um complemento econômico da ati vidade íla outra. Tornou- corren¬ te o sistema utilizado pelas sas dos países industrializados, <-“m prêque as.scguram um certo contrOle sôbre as companhias estrangeiras, que lhes fornecem matérias-prima.s. D© mo modo, têm interêsse mesem , . , assim agir o.s produtores das niaterias-prima.s, que desejam assegurar a venda conveniente de suas mercadorias através de organismos estrangeiros' (jue êles próprios podem controlar. '

varia em com 03 se se ou o contrôuma
f' /
112 Illl.J NU» *1
uma
A participação vertical grau do influência em relação interesses que estão em jogo: trata de assegurar o fornecimento a venda de um produto de importân cia relativamente reduzida, Ic é realizado pola possessão de pequena participação na sociedade; ao contrário, sc a matéria-prima é rara, ou entra com uma parte muito importante na fabricação, a parti cipação e o controle acompanham a curva ascendente do interesse de in fluência. < ,
Um exemplo clássico é o das usinas metalúrgicas francesas, que não pos suem suas próprias usinas de car vão, e que, por esta razão, têm em suas carteiras, quase sem exceção,
maços importantes de títulos do oml)róaas carbonífera
Kis uma pu earucterialica. igem
bricaçào c assegurar os mercados das empresas industriais, que a exercem (5):
extraída de um dos relatórios üc uma "Xo conjunto, nossas participações industriais, facilitando nossos aprovisionamentos, completando nossas fabricações e aumentando nossos mer cados, continuaram a trazer para nos sa indústria o concurso quo podíamos esperar”.
dessa.s empresas (1):
‘‘Nõa jamais consideramos êste.s negócio.s de carvões (participação nas mina.s dc carvão belgas tomadas em relação com as Fábricas de Aço (ie Ilomêcourt o do Micheville), co mo operações financeiras interessan tes: é com o ponto de vista indus trial, é para ser o dono de nosso eombustivel, é para dar à nossa in dústria siderúrgica a independência em relação às minns-usinas da Vestfália, que temos procurado conseguir no.«5SO eombustivel, mesmo cm condi ções que, quando entramos neste ca minho, oram atraentes, e que hoje, o são ainda menos”.
relativamente pouco
A França nos apresenta um outro participação vertical: exemplo de uma fábrica de motores elétricos in dustriais que detém cm sua carteira muitos títulos nacionais e estrangoipertencentes às emprêsas que se consumidores obrigatórios dc seus produtos. É o caso da firma Tliornson-Houston”, que possui parcontrole, entre outras,
ros, tornaram « ticipaçõGs e as sociedades: Tramways de Ruão, de Nice, de Amiens, de Bordéus, de Versalhes, a T. C. R. P., os Tram ways argelinos, a Companhia Geral Francesa de Tramways, de Roma,

de Cadiz, etc...
Assim como bem o resumiu um re latório dos “Estabelecimentos Schneider”, a função do controle vertical é facilitar o aprovisionamento, a fa-
A participação ou o controle ver tical tratam de realizar, de um modo mais ou menos completo, a idéia da integração de diversos setores eco nômicos. Voltemos, por exemplo, ao primeiro exemplo considerado, a fá brica de celulose e a de papel. A primeira ligação que começa a so estabelecer entre estas duas fábricas pode freqüentemente se transformar em uma fusão. Os primeiros passos poderiam ser representados por um acordo ou por um contrato de venda 0 dc compra da celulose para a einprêsa que fabrica únicamente o pa pel. Participações recíprocas guem habitualmente, a estes acor dos. Finalmente, as duas carteiras que detêm os títulos pertencentes outra empresa levam em muitos sos as duas companhias a se fundi rem, para constituir uma companhia integral, que, partindo da matéria fibrosa, fabrica todos os gêneros do produtos acabados.
se sea ca-
No quadro do mesmo ^ , TT ., exemplo, os Estados Unidos são elevados a criar emprêsas-monstros. A companhia Zellebarch e Cia.”, produziu suas diversas usinas espécies de papel e
<( em quase todas as cartonagens e
passaram mesmo a abrir firmas lo-
r ICrnvtSMu u:í
(5) Relatório da Gerência dos "Esta belecimentos Schneider" 30-11-1927. em data de
(4) Relatório da emprêsa "Altos For nos e Fundições de Pont-à-Mousson".
cais que, dando saída a diversos pro dutos alimentares tornaram-se im portantes consumidores dc papel e cartão.
O perigo consiste em não conside rar a idéia da integração como uma ordem obrigatória, para chegar a dominar a tal ponto um certo mer cado de modo a instituir um monopó lio. O controle vertical implica, por tanto, também esta possibilidade, que é precLso evitar, e um número impor tante de governos se viram na obri gação de intervir para afastar a for mação de uma tal cadeia de empre sas, todas submetidas a éste contro le piramidal e indesejável. 0 exces so na realização do controle vertical ultrapassa, portanto, a noção dc in tegração para impor o sistema do monopólio, destruindo, assim, o jôgo da livre concorrência.
acordos entre concorrentes. í^stes acordos se npre.senUm principulmontc nus indústrias onde u obrigação de im< bilizar c-apilais imporlanies torna a concorrência especial mente periíjosa; são frerjüentemente prepa rados uu consUitados por participa ção. Se esta é j)oucü importante, ;i concorrência visa simplesmente uinu atenuação de oposição de interêsse.s existentes entre as duas firmas; niite acordos parciais sóbre pontos determinados (produção, venda...)*’.
A idéia de redux.ir a conc*orrênciu pode se manifestar entre companlúas existente.s, ou entre tais empresas e as íjue estão para se con.stituir.
I’ara cheirar a obter um tal resul tado, rec(jrre-se a subscrições as antigas emprésas fa/.em sião da constituição <laií novas ciedades.
perípie na ocuso-
— O controle horizontal.
É preciso analisar a participação e o controle horizontal de duas ma neiras diferentes: entre sociedades concorrentes ou entre companhias não concorrentes.
Eis em que termos Louis Janin considera a mecânica e as razões, que determinam a participação ho rizontal entre sociedades concorren
tes (6):
5. i(
Os acordos para evitar a concorlência segue diversos caminhos síveis. A mecânica pode sc mantendo a personalidade jurídica da companhia controlada c a da troladora. A possessão de um nú mero suficiente de ações pola socie dade controladora imporá à compa nhia controlada tôdas as medidas cessarias, com o fini dc evitar os efei tos de uma concorrência no mercado. Porém, pode-se também apelar ra uma outra modalidade dc parti cipação horizontal, que nos coloca em face da verdadeira sociedade de I

controle. Neste último caso, cjue re presenta uma forma mais pura de controle, esta função é atribuída a uma companhia que é fundada exclu sivamente para este fim. O contro le é praticado por uma única emprêsôbre várias sociedades concorAs sociedades concorrentes sa rentes. (6) Louis Janin,
p. cit. pág. 78
114 DlCKVrO ICcONÚMIÍ o
Quando ela intervém entre socie dades concorrentes, a participação traduz, geralmente, o desejo de re duzir esta concorrência. Constatouse desde longo tempo que a concor rência excessiva leva a resultados igualmente desastrosos para as em presas em competição; os dirigentes destas empresas têm procurado evi tar estes inconvenientes através de 1
posrealizar connepa-
mantém suas respectivas pursonulidados Juriüicns, porém, cntrnm de acòrdo cm criar uma nova companhia — suciedade de controle — para a qual voltam automâticumentc os pa<piõ de n\;õe.s necessários para poder controlar todas as companhias con correntes.
As divcr.sas diretorias das compa nhias concorrentes sâo assim sub metidas a uma supcrdirctora única, tliie asseíTura portanto n unidade No domínio dos produtos da açau.
tratores “Cntorpilar
pela fábrica americana c a usina alemã
M.
A. N.”, a primeira, colocando o seu trator pesado e a segunda o trator mediu, os nai.
nenhuma precisão sobre êste assun to figure nos balanços anuais destas empresas, somos leva dos a crer, que esta atividade comer cial de venda em comum tem, em sua
dois de renome internacioNestas condições, se bem que relatórios t base, uma participação nas usinas alemãs.
explosivos, é esta mecânica de contro le (pic foi praticada e quase no mesmo jieriodo a Inglaterra viu se congretrinla sociedades cm umas garem volta dc a França nhia ‘ controla uma dezena de firmas que da fabricação do dinami-
Nobel Indústria”, e a assistiu à criação da compaCentral do Dynamite”. que SC ocupam
tc o indústrias anexas.
Entre sociedades não-concorrentes, o controlo horizontal manteve, forti ficou, e, criou, mesmo, diferentes la ços ííe interesses.
Após a última guerra mundial, puconstatar o trabalho em cofôra realizado na venda dos demos nium que
americana sas a
A participação horizontal pode igualmente intervir em virtude do desejo de prestar ajuda a uma companlna amiga.
A consciência de uma dimensão re duzida pode levar diversas emprêcolocarem-se sob uma direção única e centralizadora, para obter assim uma melhor administração ou um potencial mais importante quan to à produção, ou para a venda.
Enfim, 0 controle horizontal re presenta a modalidade de controle mais praticada, porque é a mecâni ca usada por todas as sociedades matrizes em relação com seus esta belecimentos associados.

115 Dic.i^io Kconómico
ThkmÍ-st<x:i-k.s B. CAVAix:Asn
(Professor da Universidade do Brasil)
lÁ é tempo de trazer a ciência po^ lítica para a análise do desen volvimento da América Latina, com tôdas as suas particularidades c os y múltiplos ensinamentos que intet ^am aquela parte do Continente americano.

Deve-se considerar como América
\ Latina aqueles países que obedece^ ram à colonização de Portuíral e da f. Espanha e cuja formação social e y cultural sofre a influência cultural r e política dos países colonizadores.
L> Por muitos motivos esta formação y' história se contrapõe à dos países de I, origem anglo-saxónica, de formação histórica, língua costumes bem dií versos.
Os dois problemas fundamentais
5 que merecem, desde logo a devida análise são, em primeiro lugar, a t' determinação das áreas sujeitas a exame, e, de outro, a determinação ^ dos tipos de governo e de estruturas 7 políticas que, pela sua identidade, /Ijermitam um estudo comparativo.
Excluída a área absorvida pelos países de origem anglo-saxônica, ● ● nem sempre é fácil, mesmo assim, fiV xar um critério geográfico que possa \ servir a esse estudo, se levarmos em conta os pressupostos sociológicos e políticos acima determinados.
Seria po.-^sível, por exrmplo. estu, dar o.s .si.stemas políticos dv.scfntralizado.s, notudanientc o sistema fede rativo, os governos prc.sidcnciais, sistemas de partidos (dualidade multiplicidade) etc. e tudo isso, levar cm consideração a gráfica.
os ou sem arca geogoona o reo» grupos
O simples fato da continuidade gráfica não conduz necessariamente a admitir interesse particular análi.se dos problemas políticos. N seminário realizado nu Northwes tern University no verão de 1052, sóbre comparativo politics, foram mencionado.s ciíico critérios <liferontes para a difusão da área cm ciên cia política, a sal)er: a) i-clações cíprocas de valores e <le idéias (cul tura); b) proximidade física ou geo gráfica; c) relações econômicas; d) relações recíprocas entre políticos e de pressão; c) considera ções de ordem estratégica.
Achamos, todavia, que essas são na realidade causas determinantes de uma identidade ou semelhança de estrutura social ou política.
Em múltiplos setores esse mesmo processo de investigação dos inte resses comuns para a definição das áreas se verifica. No setor econômico é mais palpitante esse problema, com reflexos na vida política e adminis trativa de dois ou mais Estados.
ou a
●j.
f 1 y.
Na Europa o Communanté du Charbon et de l*Acier, (esta com aparelhos comuns no terreno administrativo), na AméBENELUX
Existem numerosos critérios para a definição de áreas, e, muitas vê. zes, os traços comuns, a diversos ’ países ou regiões, se encontram em setores particularíssimos da vida po lítica e constitucional.
rica Latina u Comissão Economica para a América L:itina (CEPAL) são fxoinplus do sistemas plunificados, mas quo pressupõem o exumo prévio, e o respeito às situações pe culiares aos elementos que integram
o sistema.
Náo sònuMitc o critério geográfico pode .servir de base, pois o desenvol vimento histórico, as economias re gionais, u estrutura social, comporgcrulmento tantas difcrencia- tam ções que, dificilmente, pode-se con siderar num mesmo plano uma área homo- aparentemente geográfica genea.
observação sido feita paA mesma já tem continentes euroafricano ru os pcu, asiutico, ete.
ses que constituem a América Lati na, teremos dc atender precipuamente, de um lado, à colonização por, tuguêsa, que atingiu uma grande par te do Continente, isto é, o Brasil, c, de outro lado, a espanhola, que compreende todo o rosto da Améri ca do Sul e da América Central.

A diferença social e política, di vidindo êsses dois grupos, constitui, sem dúvida, a primeira grande se paração das áreas políticas da Amé rica Latina.
É assim que o Palão
quistão, a índia, o CeiIiulonésia são
, considci"ados. a sob o dc vista social e ponto político, áreas autônosujeitas a estudos particulamas, específicos e res.
X América Latina como pontos de dide outras tem ferenciação histórica, o procesa composição áreas a origem de colonização, dtnica peculiar — sendo, além do mais, sabido que grande partè dessa área possui antecedentes históricos muito próprios, graças a civilizações antigas que imprimiram traços pro fundos à estrutura social; foi o que civilizações dos
so íiconteceu com as Incas e dos Astecas, no Peru e no México.
Se considerarmos a colonização e a origem histórica dos diversos paí-
É, por outro lado, também incontestíível que mesmo o Brasil, que constitui uma unidade política, representa sob 0 ponto de vista social um agrupamento de re giões de formação étni ca G social e de con dições econômicas mui to difei*enciadas, corres pondentes muitas vezes a grandes áreas geo gráficas, bem determina das (Amazônia, o Nor deste, 0 interior e o sul ,*£; do país).
O clima, as condições econômicas e outros fatôres essenciais à deter minação das unidades sociais e eco nômicas são também elementos de diferenciação, embora representem uma forte unidade política, bem solidada.
conum
Outra dificuldade grande na aná lise política dessa área é a instabi lidade política dos países do Conti nente sul-americano e da América
Central, instabilidade que toma mui tas vezes impossível definir em momento dado a estrutura política e
r 117 K<-t>NOMtCO ü*' ● '*r»»
t
constitucional de cada um desses países.
É preciso mesmo confessar as di ficuldades da investijjação nesse ter reno pela deficiência dos dados c sua precariedade em face dos acon tecimentos.
O mais sábio, levando-.sc em con ta todos êsses elementos de estrutu ra e de formação, seria, por isso mesmo, dividir a América Latina em diversas áreas correpondentes mais ou menos a cada um dos países que a constituem e sòbrc cada uma de las proceder a um escudo separado.
Para ilustrar as dificuldades apon tadas citaremos alguns exemplos mais caratcrísticos.
Como definir o sistema político vi gente na República Argentina, tendo em vista os padrões e tipos de gover no e de sistemas políticos?
vcrsidndcs do o.strutura socinl c pt>lítica dos países sujeitos a essa aná lise.
meree(*r certa atenpai-
a formação política c pai.se.H o aquilo <juo já “tipo.H dinâmicos dn
Lxistem, porém, flois aspectos que pedem e devem ção no estudo da área total dos se.s latino-anuTÍcan(», a saber, os tra ços comuns social ílésses se chamou d(; evolução política.
Ob.servou muito
bem Herniann países (la Kuropa Oci- iíídler (jur? os dental obedecem a 1 liticas gerais eis soeiais e poe outras particulari dades gerais .se njilicam a todos os Kstados, como â Alemanha, à Fran¬ ça, à Itália etc., que cada o (|ue nao impede um (léles possua uma es
trutura individual, fruto de uma lon ga tradição liistórica c cultural.
Pode-Se observar u mesma cousa na América Latina, onde a formação histórica, o processo social, a tra dição c os métodos de colonização im primiram sentido peculiar a cada dos países. um Uruguai, que são os países geogra ficamente mais próximos?
Como incluir na mesma área popaís, o Brasil c o lítica aquêle
t Paraguai?
Como assemelhar ou comparar o regime colegiado do Uruguai com o de qualquer outro sistema polí*ico da América Latina, notadamente com os de seus vizinhos do Chile e do
Como estabelecer um paralelo en tre 0 tipo de federação ou de descen tralização existente no Brasil com o que ocorre por exemplo na Vene zuela e no Equador?
Os termos de comparação encon trariam obstáculo na estrutura polí tica, na formação histórica, na com posição étnica de cada um desses países.

0 método comparativo nesse parti cular não teria nenhum rigor cien tífico, seria precário, dadas as dí-
Vamos definir , característicos
que inconsiderar tipos nem s elementos individuais
por ISSO mesmo procurar apenas os principais traços e comuns dos siste mas políticos daqueles países tegram a América Latina, ftsses traços comuns não importam em estabelecer identidade política do Estado (Jellinek) porque, apesar dos traço comuns, os
subsistem de maneira preponderante. Podemos reduzir êsses traços muns aos seguintes:
— Instabilidade política;
— Influência das forças milita-
coa b res;
c
— Preqüência de regimes dita toriais;
r^> 118 Du.».hto Kconòmioo J
Regionalismo u dcsccntrnli- d zaçao; Individualismo; c
f — Nacionalismo.
(!om o risco de omitir algum traço coimiin parece-nos (pie podemos den tro (le um pc(pieno ipmdro encontrar essenciais da repercussão fenômenos sôbrc a formação traçrs (»S (lêsses política constitucional da maioria dos paíse.s da América Latina.
Executivo forte; a
política não nos referimos no fenô meno parlamentarista, por exemplo, que obedece a noi-mas constitucio nais, mas à ausência de segurança dos governos à mercê de transfor mações politicas mais ou monos vio lentas e inesperadas.
Nos grandes poriodos de formação histórica c do transformações so ciais c politicas, todos os países têm passado por essas fases, quo só ter minam quando a nova forma políti ca e social chegou a um grau bastan te avançado de maturidade e de com preensão.
c
P Poder Legi.slativo largamentc repro.sentativo; (tontrôle Jurisdicionnl, inclu sive de Constitucionalidade; j rroteção Constitucional de seu sistema econômico, especialmcntc das riquezas natu-
rais;
P^odernção, Regionalismo ou descentralização admi- uma nistrativa bem acentuada.
A influência constitucional dos ICstados Unidos foi grande na forma ção política, desses países, prevale cendo sobre a dos regimes constitueuropeus mais acentuada- cionais

nicnte parlamentaristas, sem que se possa todavia negar a influência ideológica c filosófica dos procursodo constitucionalismo europeu.
Na América Latina não somente a pouca maturidade política mas tam bém a falta de homogeneidade e o desnivelamento cultural das massas, uma crise prolongada e penosa de crescimento, abrangendo os terrenos da economia, da formação dos gru pos sociais, os erros da colonização são fatores pouco favoráveis a um sistema de equilíbrio político e so cial, dentro de formas politicas ideais que nem os povos já maduros atingiram.
Mas a nossa ambição, aqui, reduztraços essenciais da formação considerarmos as re-
res se aos política, sem percussões do ordem institucional nas leis constitucionais desses Estados.
A freqüência com que se organi zam grupos politicamente irregula res, chefiados por homens de grande prestígio pessoal, explorando e ali mentando as idéias libertárias espírito individualista desses de formação portuguesa e espanhola, trouxeram a agitação das idéias, esses povos economicamente contur bados da América Latina.
e 0 povos a concep-
fato aliás também
) A Infetabilidade Política é um fato constante da história política des ses países, constante da evolução política de quasé todos os Estados, em pe ríodos mais 011 menos longos da sua evolução histórica.
Quando falamos em instabilidade
Existe em certos meios a ção de que somente governos fortes podem assegurar uma relativa esta bilidade política pu pelo menos um clima de harmonia e de tranqüilidade característicos dos países de tradição democrática.
r 110 ICí:osómu:o Oll.KSIO
V'
a
1
Não se deve, entretanto, ne^ar ú maioria desses países o anseio demo crático e de construir um sistema po lítico fundado no equilíbrio de par tidos org’anizadoH e, por isso mesmo, muitas vézes as subversões se diriífem contra os ifovernos ditatoriais.
As cau.sas principais, portant'*, dessa instabilidade são a ausência de uma maioria eleitoral esclarecida, d<sistemas eleitorais adequados, de partidos políticos disciplinados, de uma economia sólida, de quadros ad ministrativos e técnicos em condições de contribuir eficazmente para o de senvolvimento do país.

É de justiça entretanto, acentuar Que corrigir es.sas deficiência.-? cons titui um do.s pontos fundamentais de todos os programas de ação dos go vernos da América Latina.
Km alguns paí.Hos ida perpetum no poder, cm oulro.s Ivm ação transi tória c meramente corretiva.
É ê.stc o ca.so do }{r:i.sil, por exem plo, onde o exército proclamou u re pública ení 1K80 o, em seguida, curou organizar constitucional mente o país em lIMõ, dcpõ.H um governo ditatorial, entregou o poder ao I’rcsidente do mai.s alto tribunal do pais, (pie em pouc(»s itu*sch n*:'tabelcccu ordem conotitucional.
proa
orpreneni
buir
Não seria também por demais atriessa instabilidade política a uma formação mental acentuadamente individualista, a uma grande liber dade de crítica e à falta do mecanisuios próprios para fazer exprimir e respeitar os reclamos de uma opinião pública de sensibilidade epidérmica e nem sempre bem esclarecida,
b) — A influência militíir. Não seria possível fixar de um modo pre ciso os traços gerais dessa influên cia, as suas causas e a maneira pela qual ela se tem manifestado, por que diferem de país a país e segun do a época.
Em alguns países ela se apresenta mais violenta, com espírito ditato rial, tem caráter exemplar, puniti vo, enquanto que, em outros, guar da as reservas e a disciplina dos gol pes desfechados por forças armadas perfeitamenfce organizadas e cons cientes de sua responsabilidade.
que mas sempre conijireendida nos paiscs gozam de maturidade política, onde, de vez em vez, também as for ças armadas procuram, em certos circunstância.s, interferir, embora in diretamente, no.s costumes políticos. Não .SC podem considerar normais essas interferências porque missão histórica não é esta a fun ção das forças armadas, mas é pre ciso considerar que cada vez mais elas sc identificam com a nação, dado o conceito da gucrr.a moderna c dos métodos de recrutamento dos civis para organização dos efetivos militare.s.
Não há negar, entretanto, que es sa intervenção das forças armadas na vida política constitui um traço comum e bem nítido da evolução his tórica e política dos países da Amé rica Latina,
dir esses regimes com os existentes.
120 Dif.i.sTr» Kros^Mtío M
► r i
Nesses países n.s forças militares, na ausência de forças jiolíUcas ganizadas a ela.s se siib.stituem. enchendo uma missão histórica /
c) — A freqüência das ditaduras e suas caractcristícas. Já acentua mos a relativa freqüôncia dos movi mentos políticos violentos e a insta lação de ditaduras na América LaNáo se deve, porém, confun' ● ■Tf
om síia tina.
Kuropa em seus diversos períodos ^ialòricos. embora as idéias euro péias tenham inspirado ê.sses roírinie.s, que tomam feitio próprio e se *iu>difioam de ncôrdo com o meio em prosperam.
Não h.á neuar quo a onda ditato rial (la Kuropa depois de 1933, nâo deixou de impressionar os meios latino.s-amcrieanos, mas mesmo assim aem preconceitos racistas, sem discrinünações pessoais, som os méto do» violentos de eliminação do ad versário.
Ninjíuém ousaria também filiar a êsso» redimes, em seu conteúdo e em sua técnica de povèrno, os i^e^rimes do Franco e de Salazar. São gover no» fortes mas grandemente influêneindos por uma tradição política pe culiar aos povos ibéricos, bem afas tados por exemplo de um nacionalsocialismo alemão.
A limitação da competência dos outros poderes, especialmente do le gislativo, o desrespeito aos prazos constitucionais restritivos dos perío dos dc governo, a hipertrofia do po der pessoal, caracterizam essas ditalatino-amcricanas. rai'amente duras caudilhescas e primitivas.
Elas trazem também, goralmente, forte cunho nacionalista, fonte um de prestígio político nos países que sofreram por largos anos o poder do colonizador e que vivem ainda sob a dependência econômica e financeira de grupos ou de Estados estrangei-
por um mecanismo constitucional adequado. A ausência desses partidos e dêsse mecanismo constitucional que só o amadurecimento político pode tra zer ê uma das causas principais das ditaduras.
d) — Regionalismo e descentraliTalvez pela extensão geo- zaçao. gráfica, talvez, o que é mais certo, pelos processos de colonização emi nentemente locais e municipais, tal vez ainda pela distribuição demográ fica irregular, pelas diferenciações na formação étnica das diversas re giões, o certo é que a vida local e re gional, pela sua importância e pelo seu desenvolvimento, refletem som-
pre a necessidade do sistemas políti cos descentralizados.
A colonização por um grupo rela tivamente pequeno de elementos alienígenas, juntamente com os na tivos localizados nas diferentes re giões, teriani obrigado esses núcleos a uma vida independente, mantida pelos seus próprios recursos e por tanto com grande sentimento de au tonomia e indepêndencia.
A unidade política realizou-se, portanto, conservando o respeito ã autonomia desses gruptfs ou dessas regiões através de um sistema políti co ou administrativo sempre descen tralizado.
Não há tipos uniformes de descentialização, mas constitui orientação, constante, mesmo nos Estados quo não adotaram a forma federativa de govênio. Ali se desenvolveu tonomia administrativa a aucom respeito
ros. mais ou menos profundo aos direi tos políticos das autonomias locais, e) — Individualismo. Toda
Somente a organização de partidos políticos e um sistema político sá bio e flexível podem impor aos paílatino-americanos uma estabi- ses lidade política, assegurada também
íWção .histórica, política, filosófica a tra-

Dl<.|--,Tt» K' ■NÓMU;o V2\
í
cujos traços sc encontram nos di plomas políticos c na legislação, in dicam perfeitamente a tendência do espírito latino-americano para o re.spGÍto dos direitos individuais c para o liberalismo político que reage frequentemente contra qualquer re gime de opres.são.
Daí as dificuldade.s de organiza ção de grupos sociais de qualquer sistema fundado na sociabilidade, porque predomina .sempre o intorc.sse do indivíduo.
O espírito de crítica, a capacidade de analisar os atos e atitudes de ca da um, em tôdas as esferas da vida .social, são manifestações que difi cultam a organização dos partidos políticos, a sua disciplina interna, bem como a organização de estrutu ras sociais mais elemcntarc.s.

Deve-.se isso u formação social, à constituição biológica c à assimila ção desordenada e imatura de idéias pfdíticas, transplantadas de países com maior grau de cultura política e formação social mais definida.
Essa tendência individualista não impede a receptividade do povo às idéias socialmente avançadas e de cs' querda, mais talvez por um senti mento inato e um espirito libertário do que mesmo pelo caráter orgânico desses sistemas políticos.
Essa tendência acarretou também outorga de franquias políticas, mas também aos indivíduos, pela conces são do direito de voto a uma grande parte da população, f) — O Nacionalismo. Em países geralmente de imigração e importa dores de capitais estrangeiros, pos suidores alguns de grandes rique zas naturais, psicologicamente for-
mados 8ob a influônein e um com> plcxo de reação contra o coloniza* dor que o tcrla OMpoIíado durante séculos, subsiste, embora às vezos em forma atenuada, a preocupação de defesa contra o estran^reiro, sob a forma de nacionalismo.
Sü é verdade que o capital estraníçeiio contribui para o seu de.'ícnvolvimento, existe j)or outro lado opinião írenoralizada
América I.alína de que esta buição foi muito biuiéfiea trançeiro e s6 foi obtida à custa do poderosas garantias.
O sentimento nativista (pie ninda perdura como traço de uma for Ção psicoI(Jííica ainda é bem nítida da desconfiança rante o estranjíeiro, embora ífi*andes earacteristíeos de ção, antes como manifestação triíHica e de amor ao seu país.
Certas formas mais aj^ressivas manifestam por um sistema discri minatório nas ox))iorações <las riquexas minciais, na aprojiriação dos pitais ou na direção das empresas de serviços públicos.
Não SC pode dar excessivo à propaganda extremista contr países capitalistas ela se apropria dêsse sentimento cionalista desconfiança
a nos países da cont ri¬ para o csniaunia cau.sa pe sem exacerbapase cagramlcs relevo a os mas gcralmcnto naprocurando estabelecer com 0 estrangeiro. sx
Conclusão
to, como área política tina representa um terreno fértil ra um estudo aprofundado.
Considerada, portana América Lapase-
Fixamos aqui os traços gerais de sua estrutura política.
Tarefas necessárias mas que exi gem tempo c ti-abalho de equipe, riam os estudos particulares, le-
K( nSÓMIl t» 122 !)u:kmo
a 1 I
víindo-so etn conta os casos indivnduui» do cada unidade política. Se*'iu também necessário um estudo t-’omparativo cm função dos traços comuns acima nssinalado.s.
Seriam encontradas cortamente tciidõncias constitucionais constantes c freqüentes, ao mesmo tempo muito variáveis, explicáveis por uma in vestigação histórica da evolução po lítica. Outras vêzes, porém, sòmcntc explicáveis pelo mimetismo polí tico de organizações estranhas, apli-

cndo<$ emplricamente a povos de for mação social muito peculiar.
Não se pode, entretanto, negar a fertilidade da imaginação política dêsscs países e um esforço pertinaz para a nacionalização adequada dos sistemas políticos conhecidos. Entre os fenômenos particulares podem ser mencionados os partidos políticos, a estrutura dos governos, as averigua ções burocráticas etc. Tal como ocor re nos países politicamente mais amadurecidos.
r í5lí;^ATo K<:c»nòmico 123
i
Allhuo DK VjANA
QUALQUER exposição stimáriu sôbrr o D.A.S.P. — stias oricens, seu de senvolvimento hi.stórico, sua e.stnitiira, seu funcionamento, síuis problemas í*spccificos, suas ativid.idíis uerai-s e rea lizações concretas — drwrá fatalmcnte c*onsignar algumas í)!;.'>cr\'açõe.s a res peito do seu enquadramento no esíjm*ma da Reforma Geral do Sistema Ad-

ministrativo da União, preconizada pelo Governo Federal em Anteprojeto já exa minado pela Comissão Interportidária e.xprcssamente constituída para estudála e enviado ao Congre.sso Nacional.
As discus!>ões até agora realizadas sôbre essa Federal veiculados
magna iniciativa do Governo julgar pelos comentários em determinados sctorc« da — a imprensa, como prelúdio ao tratamento da matéria pelo Congresso Nacional tem sido superficiais e eivadas, por ve zes, de críticas improcedentes. As cri ticas formuladas em alguns órgãos ca tegorizados carecem <Íe objetividade. Refletem indiscutível falta dc serenida de e de bom senso, na apreciação dos aspectos básicos da projetada Reforma Administrativa. Alguns comentaristas tôm revelado com desembaraço concei tos primários em relação aos problemas estruturais e funcionais do Estado Mo derno. Os debates travados sobre a ex posição do D.A.S.P. no quadro geral da Reforma tem sido, via dc regra, in teiramente inexatos. Limitam-se alguns articulistas apressados à enfadonha re petição de velhas e desmoralizadas pro vocações.
As criticas snrt» in cfí-Ho. apcims. quando bf-m fund.iinrnl.ulas t» justas. Klas (onslítuoin. ju str caso, decisivo fa tor (lí* aprimoraincnlf) jxdítico-social do pai.s, bem como de í*Iuciclavão o forta lecimento da opinião pú!)Iicn. não é* admissível, no i-ntanto, c passar uma esponjíí na Ili.slória da Administra(,ão Pública, iie.stes últimos 15 anos, c piíítcnder apagar, de um golpe, a conIribuivão do D.A.S.P. ao aperfeiçoa mento das instítni(,õíís admiuistrativ brasileiras.
Ne.sso \asto conjunto de diretrizes, úrgãos, serviços e massas humanas ó o Estado, o D.A.S.P. com algumas características quo o singídarizam como instituição profundaniente democrática a serviço do Brasil e de seu jíono. f,'omo já foi acentuado ant('riormente élí; é um dos raros cen tros, na Anuirica do Sul, de estudos sis temáticos dc Administração Pública, termos dc planejamento, organizíição métodos, orçamento, pessoal, material, edifícios públicos, documentação e rclaçíães humanas no trabalho. Trala-sc dc nma entidade intcgralmcntc identificada com os ideais de perene aperfeiçoamen to, produtividade e racionalização admi nistrativa; mna instituição cm luta per manente contra os fatores de corrupcjfio ou abastardamonlo dos serviços públi cos. E’ claro que diversas iniciativas esforços do D.A.S.P. no sentido da realização de tais objetivos, durante os 15 anos do sua cxi.sténcia, acarretariam inevitavelmente um alto coeficiente de
se apr(’scnta cm
A
O ()UC as quo
e 0
\
●●npopularid.ide.
f'*r»-nto a reação psic<dôgica dc detenninad indivtduos cujos inte- ‘!s gnipos ou MT contrariados i><*Io IHxlcTn í^ó.ssc.s 15. A.S.V.
Muito jMíueo
<*x<TÍto sòÍ>r<' a
do que SC tem dito e posição ilo D.A.S.P.
rs(jUfma da projelatla Uefonna Adniinisiratiwi corrí>ponde á realidade dos fatos. Ao contrário do que sc tem alguns editoriais, o pro- asseviratlo ein
í' to de Reforma não amplia as ntribuiçôr.s do n.A.S.P. A apregoada lüda.s fun(,*ões i‘ prerrogativas perlrofia
dèsse nepartamento só existe na imagidos ipK* netn ao menos se digna ram de ler o Anteprojeto Covernamennaçao
tal. Não se encon tra nos artigos tio mencionado Ante projeto relativos ao O.A.S.P. uma só linlm capuz de jus tificar semcllnmle A sini- asserli\ a.
pies do primiliN'0 An teprojeto, na parte concernente
Xrm ptHÍcri.1 scr dt- cargo 0 estudo dns repartições e viços públicos n fim de nsscgurar-ilies organização o métodos de trabalho efi cientes e econômicos e, notndainente: da ad ministração do pessoal civil, estudo c administração dos sistemas do classifi cação c remuneração de cargos e fun(.●òcs, seleção de candidatos a cargos e fun^xlcs ílos órgãos do Poder Executi vo, aperfeiçoamento, adaptação e rea daptação dos ser\idores ci\âs;
transcrição u o D. A. S. P., ba.sta para caractidizar a falta de critério a vacuidade dos levianos jnontos (1). pronunc
o ia-
a) orientação c fiscalização
b) rcsâsão de projetos e orçamentos relativos à constnição de edifícios pú blicos e ã aquisição dos respectivos i^quipamcailos;
c) elaboração da proposta orçamentá ria anual do Po der Executivo, dc acordo com as de terminações d 0 Presidente da Re pública;
d) cobboração, quando solicitada, no estudo c aper feiçoamento dos serviços adminis trativos dos Esta dos, Municípios e entidades da administração indireta;
c) fixação do padrões e especifica ções para uso nos serviços públicos”.
“VI de:
i:)EPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÜBLICO
“Alt. 12 — O Departamento Admi nistrativo do Scia íço Público tem a seu
(1) A Reforma Administrativa Brasi leira (Mensagem Presidencial; Projeto de Lcl; Características Principais do Primi tivo Esquema de Reforma Elaborado pe lo Governo: Anteprojeto Primitivo; Pare cer da Comissão Intérpartidària) — im prensa Nacional, 1953 Cf. Anexo.
Art. 13 — O Departamento Admi nistrativo do Serviço Público
compreen¬
a) Divisão dc Edifícios Públicos;
b) Divisão do Material (transferi da do Departamento Federal de Com pras e a reorganizar);
c) Divisão de Orçamento e Orga nização;
d) Divisão do Pessoal;

í)lc r .Tci I^f.osóxnCo 125
scr-
i
\
U
e) Divisão íle Seleção c Aperfeiçoa» mento;
f) Cursos de Administração;
ff) Servi^-o de Administração;
li) ScTvj^o de Documentação”.
Vc-se, portanto, íjuc não foi alt<;radíi a cornjielência básica do D.A.S.P. Éle continua sendo nrn orguo esscncialmente técnico, de caráter normativo auxiliar, intcgmdo
o na Presidência da lO Suas atrina.
(jiie
t cm que essa ^ Divisão somente poderia funcionar a contento, como uma das peças do sis tema racionalizador, integrado no D. A.S.P..
xiIi:i»lo coin l<'Kla lealdade e detiicnção, no deM iiip<'nho de seus pevulus encarí»os adininistMtivos. Não tem. [M)Ís, razãíj de Ser, a lelennia (jue se prttcn<le lev.iiit.jr acêrea de uma entid.id»* xíliar nitidamente deinocrátiea sivaiM' nli- técnie.i, cujas origens s.’io ins piradas na mel!í(jr tradiç.u) .ulminislrati\ a arie!o-.saxóni( a. S'ifí. na pioímid.tinent»- d< in()i ráticos os o!)j« ti\o.s, o estilo de conduta (● as tradí<,ões comprovada <íícirncia, austeridade e dignidade, (jne tão hem car.ictcri/;un — óri»ãf) especializado confecção da Projxista Orçann-nliiria da Uniãf); na iincsligação, exame tação dos problemas de pessoal, material, «difícios públicos, df)ciimentação, estatística administrati va e redações com o público; fitudiiiente, nos esforços de (jrganização raciejnal do Lstadf) brasileiro. Bastante sintomáti cos são os intuitos sidjallernos dos pretendem mutilar inna dieada à lula eonlra o pistolão, guisino eleitoral, na burocrática, últimos abcncerragcns do empirismo lardatário.

au«● excliiN rrd.ule. (le o D.A.S.Jb na r orien(le administração quü instituição deo (“inproo desperdício, a roliE’ a nalural reação dos reD.A.S.P., o
A Reforma Gend da Administração Publica constitui, do ponto de vista do unia exigência do bem pú blico, uma legítima imposição das atuais circunstancias dc expansão demográfica, econômica, social, política, cultural administrativa da Nação Brasileira. O mecanismo governamental carece de no va organização, diretrizes c métodos cpie o dinamizem e adaptem a essas circuns tancias. Êste é um fato, aliás, inevi tável, também decorrente do mutabilismo c da crescente amplitude das funções governamentais.
«K
O Presidente Franklin D. Roosevclt reconlicccu com lucidez o alcance e
E* da maior importância para os ser viços públicos que o D.A.S.P. tenha eqüidistante dos Mini.stérios num esforço de apreciação multilatcral, sis temática e racional dos seus problemas. Poder-se-ia aludir ainda às imposições da imparcialidade, da segurança técnica e da objetividade. O D.A.S.P. auxiliar do Presidente da República em função de quem existe e para quem trabalha — sempre tem procurado au*
126 IDifiFATt) Econômico
R(-piiblica e dirctamente subordinado ; Cbcfc do Poder Executivo, buiçoes de natureza executiva continuam adstritas, de um modo geral, ao setor dc pessoal e de elaboração orçamentáO restabelecimento da Divisão do Material nada mais é do que uma pro vidência dc interesse geral da Adminis tração. A Divisão do Material I
não sempre pertenceu ao D.A.S.P, encontrou no Departamento Federal de Compras, para onde foi transferid; ^ 1945, condições adequadas ao seu fun¬ cionamento. Tendo cm vista as exigên cias próprias das especificações técnicas c da padronização, as peculiaridades do abastecimento das repartições públi' cas, inclusive pesquisas, custos c dire trizes normativas — é claro
se mancomo
5>ii*nific;u;ão particular desse problo ●'»a uo f.iinoso Hclalôrio de 1937:

**A ft^tínoniia o u eficiência do Go-
tíhí desses setores as alivIdacUs c domonslTum o rca* liz;içõt'S do D.A.S.P.
N.».
vèrno n tpierem wnstante investigação e ‘■eorg.uúzaçâo da estrutura admiuistratiIV mu èrro pens.ir que seja possí vel uma organização governamental de ear.jter delinilivo. IC' necessário que
●stude eonslantemente. em seu conadminislrativa fedeve piutu, .1 maquma
r.d.
t<' surgem e e de>apareei'ni.
|H»is novas atividades eoustantemense transformam, ercsciiu .●V não ser (juc liaja
seu perene esforço pelo aperfeiçoamento dos ser\iços públieos brasileiros. Sem dúvida terá o D.A.S.P. come tido erros ao traduzir em medidas conrefor- eretas alguns dc seus objetivos
madores. Mas a racionalização adminis¬ trativa é, essencialmeute, um proce.sso continuo no âmbito do Estado MüdcrDeverá, portanto, o próprio D. A.S.P. submeter-se a uma rcorganizixção permanente a fim de não parmaneciT cristalizi\do numa estrutura defini tiva.
no.
o necessário cuidado quanto à sua distribuiçfu) pelos órgãos adequado.s, do que ri'.'.iiitam Por eonfusãt) e erros caros.
lado, (piando desaparece ou dc- outru ilína a uect'ssidade de que o Governo continue a e.virccr uma certa atividade, os ajustamentos se fazem tardiamente ou luiuea'’. (3).
utn órgão c’Sj>ecÍaluu*utc <.<púpado para inveslitíar proldctnas tle organizaçao, as ativitlatles são empreendidas sem novas Em face de uma instituição como o D.A.S.P., incumbida de encargos vitais à prosptridade da Nação e que tantos esforços tem efetuado nesse sentido eom maior ou menor sucesso — só bá uma alilude razoável: corrigir-lhc os possíveis erros; desenvolver-lhe os as pectos positivos, apcrfciçoá-lo c apare lhá-lo para o bom desempenho das tre mendas responsabilidades que lhe cu bem — menos por èle do que pela cres cente prosperidade do Brasil.
O D.A.S.P. pode orgulhar-sc dc ter efc'tuado um esforço extraordinário nes tes últimos 15 anos. O país inteiro é Icslemimha do (pie lein sido as inicia- ^2) The Presidenfs Comnilttee on tivas e a ação fecunda desse órgão de Administrative Management. Adminlstra-
adminislraçao geral nos diversos setores gt^tes Government Printing, Office Wasclo sua atuação técnica. Em qualquer hington. 1937.
1:27 Hu.kstO ICCONÒMICO
V
rural, ora posto sagem do presidente da República, f questões interessantes, umas de dotitriV na, outras de ordem prática, ( ria possível examiná-las, tòdas, aqui.
São e nao seI Procuraremos sintetizar ao míbeimo nossc ponto de vista.
1 to assim Se c.
estivéssemos naqiielr lem|>u. formaiú,.

inos po dnra.
,sivclm<'nte na corr< nt<- hb. rtaM;ls, econòmicamenii'. imjifi,,,^., i átirea foi
é rcc*onliccer que a lei unia antecipação forçxicla.
♦ >ÍC ♦
Em primeiro lugar, cabería discutir que c mais certo: se forçar, por as sim dizer, a evolução social, por meio de medidas governamentais, ou se aguar dar que essa evolução tLralmente, Parece índole brasileira
K.stamos, agora, em fact- de te<-imento semelhante: '”u act»„nâo s<- <!iseiitir;\ (|uo é necessário, indispensávt I, Imu,; no, acudir ao trabalhador do e levando-llie o amparo da medicina, do conforto, da bein-trslar. O que .se pode discutir é todavia, o modus jücAcndi v. principaU mente, a oportunidade. () horm-ni tio campo não tcin, evidentenn*nte, a nifsma formação c princ-ipalmente ma capacidade mental do liomeni da cidade. Claro que não se deveria tra tá-lo como ao índio ou
I●'inqx,. bigieiir.
t r. % i
educação, tio <la u mesa cn.ança, mas
Entretanto, se isso é mais da nossa índole, não nos parece o mais certo. Temos um exemplo no passado: abolição da escravatura. |.
, já ; porque somos um povo de scntimenlais e impulsivos, já porque, nos últimos tempos, é da essência do regime a ação supletiva do Estado cm todas as nos sas inicíativa.s, tanto na esfera econô mica como na financeira ou social. f , dc outro lado, a qualquer observador mesmo superficial, não oscap.a o fato de íjuc é impossível, sem inconvenientes estender ao campo, no presente mento, uma legislação rural das cidades.
como estava a importação de escravos, ti: assegurada a liberdade dos filhos dc r mulher cativa e libertados os septua\ . genários, a abolição total seria um fato f, dentro de muito pouco tempo, sem os estremecimentos que sacudiram até alicerces a economia nacional, haven■ do unidades provinciais, como o atual Estado do Rio, ' fizeram.
' a os que nunca mais se reEntretanlo, os românticos da
inoíuiáloga à
011 existo.
O aspecto rcclamístico, clcitorciro demagógico da medida, sc ele não c 0 f|ue o deve prevalecer. Nem tão pouco o aspecto sentimental. Se dese jamos, dc fato, beneficiar ao liomcm do campo, e isso sem causar estreme cimentos na situação econômica da agropecuária brasileira, o remédio não deveria ser tão drástico. Conviría vies se a medida por etapas.
E, principalmentc, não poderia scr posta em prática num momento como í
t I í r 1
1 JOSK Testa 4
p^Nv-OLVE murtas e complexas ineJi íl«* fXplora(,áo dn \i<l. ImiiMiias. ● , K df fa c da lilM rd.,,1,. «ila ções o problcm:i da sindicali/aç-ão em equação p<da rnen- í
O se processe namais próprio <!a a primeira solução
próprio Cerceada !
(
época, aliás muito ao sabor do nosso V temperamento, impuseram, de súbito, a reforma. Dizer isso, ainda hoje, parece ■ reacionarismo e dá uma sinistra idéia
«-in «jtu‘ .íifula não > ● t.)nsci»uiu ao iiH-no'. (IcUt a marcha a.'cní>ional ilo cas to íla vitla. \âo m- trata do prololaváo. Mas. se o governo nem mesmo coii''<'guiii pôr >uu frciíí à huhida dos pro(,'os. como forçar nma medida (joe tta/. ela pre‘)pria. <an seu liôjo. a posnnia irreln-ável, iniensa
:l)ilid.ule de O normal, o lógieo

mas siiti jKir outras e «miitas medidas. (|ue fariam com que ao patrão se alias se a admiuistração pública, no senti do de pagar o ònus daquela melhoria. Não é ao empregador rural que cabe fa/er mais e melhores e.stradas, amstnnr *, seola.s e hospitais, ensinar melho res j>rocessos tc‘enieos. Essas reaUz;\-
suhiUa Ui» iiisio de tiula a produção ru ral e. <'onsei|iienleuu‘Ult, de toilo o cus to da \'ida?
. seria
ijU(‘ .1 alt.í adminislr.ição do país eonseguisse eueonlr.ir solução para o pixiblema. <]ue \ jau já ile doze anos. <la ascen são iiuonlrolãvel <lo cu^to d<' tíklas as utili{la(h‘S. (à)nseguido isso, Iratar-se-ia de melhorar a situação do homem do edUng prices: geadas; broca e bicho mineiro: preços baixos << i) e "gi-avosos"» l Nossa agropecuária, temo-lo Nãci por meio da 14 mágica campo, do .simliealismo, (jue deseja heneficiá-lo tão sòimaíte à custa do empregador
um queima dos estoques;
etc., ete. dito. é ainda, mais do que em outras uma loteria. Não p.irtes do mundo.
obstante, e.xistem proprie- numerosos tários njrais vèm esforçando que se em promover uma efi caz, humana, perfei ta assistência social, exemplo tende a ampliar, pois, tempo, as fa zendas que não ofe recerem tais serviços disporão rural ahunc eficiente, govémo cabcaqui, vmia ação ludircta, apenas dan do ao interior
de Ao na, aqui-
que não tem dafinanciamento conveniente, a juros baixos e
lo do; prazo lon¬ go; escolas, sòmente humanístie nao
|ONí»Mti O 1 s 129
^\u'S, ao gONÒrno é que caheria tè-las ja bato, com ou som sindicalivaiçâo. E, mesmo, eahe notar (pie o “fazendeiro não tem sido, na maioria das vezes, henefieiado: muito ao eontr.írio, tèmllu' sohrad(í p('rcalços: excessos de eafó invendável, com à
O se com o nao braço dante ■ \ ● 7 ^ *●
cas mas principalmente técnicas; hos pitais, centros de saúde, assistência den tária, ambulatórios fixos e volantes; es tradas suficientc*s e bem distribuídas; arinavcéns e silos. Com ser%'ií,t)s dessa índole, o homem do interior já estaria ii.diretamente beneíiciadf), mesmo sein assistência direta <● s('in a existência das COFAPS e COAl^S que, SC na(j nos
enganamos, apenas suliséslem no Brasil.
tlc onU*»*‘ dem Ingiêriico^sanítáría r finnriccíra. AqiirLis, instituí pn»t<'vão à assintrncia são
tais |X>r acidentes de justiça e conveniê

as i ctmio a M***’ partiiri) nlr*. f«'ria tr.iballa». s. no iiíia indiscol** ituhdc f,)u.inlo âs outras, de as veis. finaíiceira dúvi- ap<‘n:is, t<-iiios nossas das sõhre seu resultado. (,)u* iu conii<ce, como nós. o Ítílerior. <● a nientah«la<le de íjuase todos os traljalliadores rurais, sabe pí-ríeitamente cimo de sn.'i «|ue (juahjin r acrc''renda pi‘sscja
Não temos conhecimento d outros países exista e fpie em o cipoal das leis c regulamentos qiic há entre nós. difícil. Ocioso Será seria mencionar a imen pregada senfio em diversões inconvenienein* ia<f sa capacidade legiferante de nosso povo tes, tais como pinga”, jogos. (oinpr.is sem ncrilinni valor ou utilidade, tão, en* ou, serve-llu‘s j>ara projMircionar maior pasrnosa capacidade “cumpridora pirâmides de regulamentos, los nossos burocratas, liome sabem fazer
e a dessas M
pcms que nada sem citar os O
mnnero <le /o/g«.y na semana, tlesde q'i«* com um ou díus dias de lra))atho poss.im ganhar tanto como em dois ou fjuatro .S., D.L. Nossa mercadoria mais
ou quejandos, nobre, o café, mente as divisas para nos dar lieròicaque tudo pagaque suar sangue para sair Mais difícil
com não é produzi-lo
Não leni o caipira, cin espírito de economia, dc ordem, não sabe alimentar-
aiiteriorrnente. sua generalidade, se, arru-
mos, tem do país. mar sua casa, criar sens filhos.
.sciis moveis, tratar-s<*. Tildo isso não .será ou o .salário míni¬
E exportá-lo, pois as marcJuis, contrainarchas e assinaturas de guias ap(;nas o sindicato mo rjtie lhe irão ensinar. O probh -
íificados que êle impõe ao exportador desanimariam qualquer cidadão que não tivesse espírito esportivo.
obstante, alguns grãos da rubiácea e.xistem, menos felizardos, que não consc'guem sair do país, dc nenhum modo. Beferimo-nos
c cernao aos que deveríam levar
os turistas. Éstes, nem conseguem ex.perimentar, nos portos ou aeroportos, um café de verdade, nem conseguem levar, ao menos, um saquinho de um quilo, como lembrança do Brasil. O fisco, complicado e implacável, llies impede, a eles, esse prazer e a nós, a posse de inaís alguns dólares...
Voltando à lei rural, façamos, desde ^ Jogo, uma distinção entre duas classes cie medidas dela constantes: as de or-
ma não leis. E’ na assegurar ao caliomem boníssimo simplc
.se resolve assim ape-nas com trabalho para uma geração. Desde logo, cumpriri bodo
, prestativo, inteligente tenda que seja possível. Mas, não dan do leis c sim dando eslradns, escolas, hospitais, financiamento tc educação, formação dc mentalidade, para poder aproveitar ! novas medidas
.s, toda a assjsprincipalmon- c uma nova as disposições, inclusive
as melhorias dc salário.
Tcria que ha ver uma scqiiencia progressiva e natu ral. O presidente Gctúlio Vargas mos tra, por certo, .sua índole humana seu desejo de resolver o problema. Acreditamos, todavia, que êle não está adeqiiadamentc equacionado, ocasião foi oportuna.
nem a
Dn.i 1 >» 130
¥ ■
e
e E
^ í|í :fc
Projetos portuários da Comissão Mista
Cl.YCON DK PAn*A
J\ srr.i rj.t.1 a Irmira v <●/. (jui' os pn l)!«-iius í\a ('omissão Misia Hrasil-

<}ac c membro do I\st.ulos rnidos p.uM l)os( nvolvimonto I-ii »mõnm o são Ira/idos ao Camsolho TtViiKo <1.1 (ãmlí ilrravão Naoioual do CàinuTfio. Ant«TÍornu-olf, ti\<' ooasião do r\pliiar nM*''-âo.
<-ol<-Ha
>CUjcoii (Ic Paiva, ('()n.vr//uí i iTiiit'0 (la Cotijcdvração Na cional <!o Comercio, examina nosse tra balho oral os projetos portuários da Co missão Mista lirasil-Estados Unidos. E' desnecessário encarecer o alto significado desta matéria, de interásse vital para a nossa economia, da lavra de tnrt dos mais ilustres engenheiros do Brasil
o programa lfrro\Íário <la Co(> I)r. UoIhtIo Càunpos. imni de Comissão. Jaloii sòhr<' o prol)lt ma da uaNeij.Kão d«- ealiotagem. AgoT.\ api(»v< ito a oportunidade uma idéia dos nossos tral)allu)S sòlm' o pj(il)I<-ina luMsileiro tU‘ portos.
para dar Ihõos de dóhuos e a parcela cruzeiros, i;3.2 bilhões.
Càunpre eselareeta to d.i Comissão que o plaiu'jamenineide essi-neialmeutc O programa portuário é modesto den tro destas cifras, meio de eruztáros, sendo apenas um bilhão c que a parcela transportes e energia, ferindo aintla, e de nioilo subordinado. certos as' dólares das despesas proN-istas é de trin ta e oito milliões de dólares e a parce la cruzeiros, setecentos c trinta milhões. Apesar da relativa pequenez, o progra
orçaem cerca de ce -
petos da agrieultu,ra e da indústria. O programa <.Íe transportes, compreemlendo transporte ferroviário, portos, navee transporto Rodoviário, foi Comissão Mista gavao do pela ma vai diretamente interessar a dezes seis portos, c de maneira indireta bene ficiar ao conjunto dos vinte e sete tos brasileiros, porporque uma parte fimda
tlo/.e bilhões de cruzeiros, sendo a par la ilólai('.s de duzentos c dez milhões
c a ros.
parcela cruzeiros dc oito bilhões. Para .se ter nina idéia do conjunto do programa do energia informo qne sc trata de nin programa de sete bilhões dc cruzeiros, sendo cento e trinta mi lhões dc dólares e 4,3 bilhões dc cnizciQiianto aos outros progríunas, su põem uma parcela dólares de quarenta c um inilliões' c uma parcela cruzeiros dc 0.6 bilhões, dc modo que planejamento requer a despesa global dc vinte c um bilhões dc cruzeiros, sendo que a moeda estrangeira sária à execução desses serviços ordem dc trezentos e oitenta e um ini-
ta dos por-
mental do programa da Comissão Mis■ _ para portos íoi a proposta da aquisiçao dc um conjunto de oito dragas mra atender de modo permanente ao serVIÇO de manutenção dc calado tos comerciais do Brasil rirnn sob ; Divisão
se
no comendada as draTeriam sea um conportos; e ou mais
que opera^ a responsabilidade de tuna de Dragagem, Departamento Nacional de e Canais. >● ■ i á-
r criada A IV. , - Portos, Rios A poUtica de dragagem resena a de distribuir gas por regiões a dragar, do essas máquinas cm determinados pontos da costa e serviriam junto de dois, très
^
1
todo o necesé da
Cumpro salientar ípte o príigrania dc portos tern dois a.spctos intcíraincnlcí di versos: o problema rio porto em si, do mcllioramenlo on conservação das suas condições naturais, oltjetivando prineipalmenlc o nanimento fácil do na\io c o problema da inovitnentação da car ga. Assim, o nosso atatpu* ao prítbh*ma dos portos brasileiros exigiu especialísta.s nesses dois aspetos diferentes do problema, supridos tanto na seção bra sileira como pela americana.
Como especialista
gagem tivemos a fortuna dc conl: os bons .scr\'Íços
do Coronel Hobert
clü |X> .ívrl íjtir o M'll cmprr^O ●● tenda'a outros píírton. Ai |)oís, (X( mplo de assistência técnica de tn iincdialo dada
rs-
iiin fhi-
nio-
por mn lioim-in rjiic Mjrprcííídr uni.i dcfieiênci.i r da um aparcilu) siinplf-s, tuas c.ip.i/, dc ràpidamcnle atninnlar a prinlutividade, /\o ItJUgO dc (ÍIK<I iHtsso litoral, r.\i'.l( m
int dc por tiavios «b* cinquenta <juais vittlc
rc<-omrii(puloitu tro'1 írcqucnt.ul.is
(jualqurr tipo, (êrea dr indca»t.i<,rii s na costa, c setr são r< COIiIlc» i(l,
ino portos, ('omcrciabucnlc «jrg.mi/iulos cxíslcm apenas <lczcjio\c; M.maus, ceife, .Maceió, .Sal\'i(óri.i, Hio <\v janeiro, dos Hí-is, Santos, Para¬
das coHe!ctn, Natal, Cabelo, H vador, iMiéus, Niterói, Angra naguá, Imbitiiba, Lagun: Pelotas, Pórlo .Al cialmente
«, Hio (ír.mde. egre. Um ])órto coitierutiÜz.ado, mas não do. explorado a títíilo llajai.
São portos conslmídos, t tnbora apurelliados u (juc, portanto, ])odem aga salhar navios, S Hocpie,
organi/íi]>rccárÍo, ó o de nao mas não re((;l)er cargas: e S. no Heeótieavo l)ai;mo,
5 Sebastiao, ein S, j'anlo, acbiun-.se De outro lado, cm fase adiantada do cons trução: Macuripe, no Ceará, S. Francisem Santa Catarina, Santa Vitória do Palmar, no Hio (írande do Sul, Corumbá,
Cí), c no Mato Grosso, ])òrlo flu vial, terminal dc uma linha dc cabotagem.
Sc 0 Brasil dispusesse realmentc de cinqücnta portos para cinco mil quilô metros dc costa, teria cm media mn pôrto cm cada sessenta milhas de ca botagem, antes prejudicial qnc benéfico, P)c fa to, um porto ó um benefício de caráter punctiforme; exercí; influência dentro dum centro apenas; difere, pois, comple tamente quanto i\ capacidade dc ação, de uma ferrovia, dc iim canal, ou de
o nosso atraso no manuseio de carga, volume por volume; c logo introduziu, primeiro em Santos e dcpoi.s no Rio, o uso dc pallets, de tabuleiros para mo vimentar carga geral por dezenas e até por centenas do volumes de cada Desenhou-os e mandou construir tais tabuleiros, inicíalmente em número de cinqücnta. Tiveram imediata aceitação em Santos, no Rio e em Paranaguá, senA X
que redundaria cm efeito c

Dk.j ajo 132
assim seriam rei>arlídos ao longo do litoral, exceção de uma draga que tcria sede no Rio c que alenderia ao ser viço geral de dragagem de tôílas as barras. Seria esta draga autotransportedora podendo trabalhar cm mar agi tado. è
em ir com
Warren, do Exército Americano, autor do projeto de dragagem do IJai.xo Orinoco de modo a pennitir a e.\qx>rtação do minério de ferro do Cerro Bolívar, na Venezuela. í\a(juiIo que se refere a jxãrto interno, contamos com o Sr, Ilariy Brickmann, especialista de vimentação da carga no pôrto de Nova York e que muito se dedicou à meca nização do serviço dc carga e descar ga no Brasil. A influência de Brickmann entre nós já se faz sentir aprcciàvclniente. Ficou êle muito admirado com i
vez.
liin.i r-‘<h>\i;í, <|m' ih ^|K*rt;un o di \ii)\ iniriilo ao loiu!i> duma faixu.
l*m r\í'mplo
ncíSNi». frt <pienlemente - it.uli
|x»r \\ .irf( n das iiumivenii-ncias
<1.; pimalidadc dr |>orlos r o dü lilornl Santa (latarina
<le qm\ ca>m trezentos
qmli’itn« li«)s dr dr\<*molvimento, apena.s', biluba. |>oi1os: Laguna, ImH*»riam'n>4)lis. Uaj.ti e S. I*ranDe .udrdo
I xi.stém ja desses
il<* t im n e(U!) a sua opinião, a làneo
aJHxjradouros.
(pif o prrsiigio ^■^t;^du;ll OU imuiicipal aparelhou eimio j>orlos, é <i maior impe dimento ao aprovrüani.-nto racional da f.iix.i eosleir.» do Kslado.
T.dve/ \ alha a pena recordar o que mencionar, quando probhuna ferroviário do Br.isil, a respeito d.is cifras d
j.i tive a honra <lc i lali i sôbrc »> a<pn e perl urso imaiio das largas q)uamlo se {li\'iile das-(piilôm(“tro amialnicntc uma IcrroNía,
em o por
iH-laclas transportadas, obtém-se uin com primento ([Ui‘ é o <-argas. As <-ifras. apontar, são da ordem ilc (puaila (piilômclros para
do Nordeste, incrcmcnlando-sc daí para o Sul, de modo que, na \'iação Férrea do Hiü Crande do Sul, o ^XTcurso inctho c da ordem de quatrocentos c cin(jüenta quilômetros. Mais uma vez sc Nvrifica, na base dessa consideração, (juc o Brasil econòmic-amente é um pais linear, de largura pequena, 150 ipiilòmetrus ao norte e que, perlongando a i\)sta, se vai alargando trés vézes ésse tanto ao Sul, Tôdas as nossas proocu-
paçi)es gü\ernamentais, do prazo curto e mi^iliü, SC não exercem sObre do oito e um pais meio milhões de quilômetros quadrados, Anas realmento sòhrc essa faixa linear, ésse eciuneno com pouco mais de milhão de quilômetros ({uadrados. Ao mesmo tempo fica c\-idenciado p. la consideração porque grande caminho do Brasil e cabotagem deve ser nlia dorsal do tnmsporte

o mar e o porque a realmente a espiem nosso pais.
no.sso pais. mnnero dc loneliIprodu/idas p< lo número do to¬ L)ésse modo, a nossa réde do ferro vias dis|x’)c-se como um transi>orlc satélite da costa c tributário da corrente litorânea do tráfego dc hotagem c o dc longo curso.
iiereur.so médio das que tive ocasião dc cento e einas \’ias férreas
sistema do ea-
Parlicularizando sôbrc a construção e operação de por tos cuniprq infor-
das em casos.
133 > ji.
mar: os portos brasileiros foram construídos entidades por privacm sete ca sos; pelo Govérno Federal, seis; c pelos go vernos estaduais, om no^●e São de iniciativa privada os portos de MainUis, Belóni, Salvador, Ilhéus, Santos, I
.uivnos 1‘Nlados Ibiídos v porte (arreiam
Imbiluba c Rio Grande. São dc cons- vimentad.i eni |»rto.s. r a clespf«»|n»rvâo enlre o f|ue as vias iniern.ts de tr trução do Governo Federal: Natal, He* cife, ílio de Janeiro, Itajaí, Laj»una e S. Roque; de governos estaduais os portos dc Pórto Alegre, Pelotas, Para naguá, São Sebastião, Angra dos H<is, Niterói, Vitória, Maceió c Cabed«-lo.
E’ interessante notar ter liavido, al gumas vê?X'S, mudanças de titular para efeito de operação. O Covêrno Fede ral, por exemplo, que construiu portos, SÓ opera ejuatro: Belém, Rio d(; Janeiro, Natal e Laguna. Opera-os sob duas modalidades administrativas: mo repartiç-ões, o rpie faz em Natal Laguna, filiadas ao Departamento Na cional dc Portos, Rios c Canais, tao como autarquias, caso de Belé e Rio de Janeiro, prio.
svis coe ou enm com orçamento pró-
No ca.so da iniciativa privada, os sete construtores de portos não os estão ope rando senao cm niunero de cinco: Manau.s, Salvador, Ilhéus, Santos c Imbituba. Já os govêmos csíaduai.s operam a maior parte do.s nossos portos, onze ao todo, tendo-se recebido do Governo Federal e de entidades privadas
, caso este do Recife e do Rio Grande.
Para se ter noção da corrente dc trá fego marítimo que busca os porto.s do Brasil, dcve-sc atentar para o que sc passa a expor, cargas nos dezenove portos comcrcialniímtc organizados é da ordem de vin te e sete milhões dc toneladas, ter idéia dessa grandezíi importa relem brar
O movimento anual de Para sc que, nos Estados Unidos
o mo
vimento anual de cargas, nos portos do Atlântico, do golfo do México o no Pa cifico, é da ordem de quinhentos e cin quenta milhões dc toneladas.
O que, contudo, causa reflexões na comparação talvez descabida com a eco nomia americana sobre a tonelagem mo-
(pie os respetivos jxjrto.s manipulam, internas ;mu riean.is. anualmente carreiam um billiao e s« le< <ut«»s milÍH*M-<> de totielad;
As vias islo é, um |)om o mais (pie os |M»rtí»s m.imi.\o Brasil, as vias íérre.e-
is, Iransseiatii. quarenta itulliõi s cie teneladas de im-readori.
de tres vezes o
poriam cérca de Pa- as por ano. s sôbrc- a topelas nulovias.
rece não ha%cr esl.itísiici nelagein Talvez Ir; ladas
movimentada por ano, o fju(. significaria que transporte terrestre tluas \(‘*za‘S o Na 1'rança, qüenta inilliões
Uísjxirtetn 10 ]>illn'iis de lom*-
o ta s. os porlos mani])idam de toneladas c sornetilc; as vias férre;
apenas movimen que manuseiam os jxirlo ( i
npor aiio is la/em trezeno que SC maniptda J)orlos vem erescendo dc* ano
tos milhões de toneladas, seis vezes mais. De qualcjiK r modo em nossos
para ano. Km 19,'M), milhcH;s (!(■ toneladas, cifra (pie .snhm pa ra 27 biihõírs de toneladas em H).'52.

apenas 13,5 eram anos, mereum millião dc toneladas
fpie o.s pornianipnlain dividiiicargas por classes. Só mais de sete dois >1 porlos movimentam milhões de toneladas, e o de Santos; coni mais de dois milhões e menos de sete, só existe IVirlo Alegre, com 2,3 milhõas de toneladas; com me nos de dois milliõcs c mais dc um miIlião, ,
o P(nto (lo Rio apenas tres portos: Vitória, essen-
cialmentc um embarcadouro de miné rio dc ferro, com 1,8; Recife, com 1,7 e Rio Grande, com 1,6.
Portos com
menos de um milhão de toneladas dc carga por ano c mais dc quinhentos ‘i i
134 ,wKMO Er.osnsui.o
f ouvo, p„is, annienlo do simples ao duplo no intervalo de lr(‘ze mento é.sse dc í
por ano, cin média. Vale a pena dar idéia do tos individualmente do o peso das
mil t iiio»: Nit« rôi, Sal\.idor, Imhiliili.K l’.ir.in.»mM: onn mrnos ilc quitilirnl.i> inil «● mais <lr Irrzcnlas mil, clnis portos aprnas: IN-lotas o Manâtís; fmaliiirntr. seis j>*»rtos mn\ínu*ntam mo^.n^ «l«* tlu/«*nlas mil tonelatlas do carga.
(àinipti- meiuãntiar uma das p.H Õcs (ia Oomissúo Mista, ao tratar do prnbli iiia dns jx>rlus brasileiros, que foi ((jiKcnlrar-se
preoeudr nos aspetos ndaeiona(l«»s eom a manutenção o \ a(,%'io dos Imulos ilo dr prelri('neia a
a conseruossos anoorailouprojetar a reabiliinslalavrM-s portuárias internas Oaí o destaque a (à)missão à criação de di\i‘«ão dc <Iiagag('m
ros. t. ça(í lias í cais arina/cns). (● (lado pcl uma no Oepartamento
sua aunplementavão
lidao no caso brasileiro, limitavâo de se constituir uma euja ('fieiència
sólidos tlc. o liijuidos, u zomí dos silos, A romodclavão doss;\s obrus c a seria de tal vascpio, dada a nossos R'cursos, prefcrhifmta de dragas e lan^Mr as bases da rejiiodelavâo futura dos j>ortos brasileiros, a proceder a obra estaria sempre depen dí nto da retirada da massa de detritos

sedinientaros acumulados nos portos dc maneira eslorvante.
(pu' na parlo rela>nellu)iamento das instalações Mista achou Nacion.d di Portos. Hios r Càmais c para o projt to dc a(piisição d«‘ uma frota dr dr.igas dr siição adcípiada
Cãunpre referir tiva ao portuárias, a Comissão lonveniento despender, entretanto, pelo meni)s ciTcu de 11 inilliões dc dólares
em eipupamentos e mais 700 milhões dc cruzeiros, isto repartido por 14 portos secundários e 2 principais, ainda que u titulo ilc programa dc cmergeucia. haja muito o (jue fazer à rtajovação das insla-
portanto, a ênfase do Trata-se apenas portos exigindo mo(lifiea(.ões importantes c urgentes.
a essa t.ocla. (‘inoor.i coneerne lU. ({oc laçíãt s jw)rliiarias ilos ilczi.'no\'c c-OJMciciais. nmitos d('les í Não está aí, lraballu> da Comissão, de uma atomiz;ição dc
SC eoncliiin que nada adiantava das instalações portnanas, pròpriaincnle ditas, quando nossos portos estavam na situação em nnenlo glol)al de melros cúbicos
Isso por(jti(“ eomliçoes melhorar as os estão, eom assore:i (● nm millíões d(' (pie viulc
<((' gem inilliõeS de melros cúbicos cias do evolução e canais de acesso o um iníllião de melros cúbicos para as barras.
recursos para atender ás silua^Hães gritantes de certos portos. Nesse sentido, o que há do atrasado mais em nosso portos 6 a sua meOs serviços portuários no brasil .sao pouco mecanizados, não tan to aciuela mecanização destinada a re tirar a carga do
ciuuzaçao. navio pam a faixa do areia c va/a c (wigindo amial dc ma mna drngamilcnção dc quase oito para as bacais, mas smi a mecanização interna dos annaz(:'ns. Entre ims ainda não se faz uso amplo de mecanismos modernos paru esse íim, principalmente cinpiUiadeiras e outras máquinas capazes do multiplicar o trabalho do homem.
um
'1’odavia, o (pic mais atrai a aten ção não são as obras hidránlicas de pòrto. Estas não são vistas com tanto interesse como aquelas pn^priamente li gadas a instalações c aparclliamcnto dos portos; isto 6, as muralhas do armazí^ais inleinos, externos o especiais, a subdivisão do cais de acostagem, con formo a n
A movimentação no convés
faixa do cais, nos armazííns o para fora serviço dc capatazia, é importancais, os te na fonnação de renda das adminis trações dos portos. Nessa parte é que a mecanização é deficiente ● entre nós, atureza da carga — granéis principalmente aquela destinad
ou na deles, a á nio-
Oi<;t -.]o I**i:OSÒMico 135
7.-
xa do caís.
vimentação horizontal da carga na faiAfjui SC procura sempre realizar as manobras por meio dc va gões ferroviários, quando mundo, é fazé-Ia com vcíctilos-
a tendência hoje, no
automóveis ou tratores, o cjuc muito facilita o trabalho, dada a ílexihilitladc3 c maior capacidade dc manobra desses veículos.
No interior dos armazéns, não só há a respeito da organização, de mercadorias e divisão do ignorância triagem
trabalho, como também quanto à uti lização dos mecanismos para empilluir e desempilhar a carga.
ncfíciar de modo gcfal uns. p<»rtf« brJsildros com i^sa grama portuário.
Ü projeto tio tlragas prr\isto pela Ot>inis5ao como cabondo proprie¬ d
rxolllscr
parte prim íp.i] do proade ao ca.so lirasjh irji. „ di- dr.ij».is de siie.io com desjiitc«»r.iílor n.i rxlr*niidad--. Nr.sse ,i,. dra^.i o ni.it*'rial flr.i^ado i- desititcgrado, as[)ír.Kio t* depois recalcady nnnia tiilnilavão Hiituante. tjiiando pnsstvil; fjnando o scrvi^-o ô feito dentro <la l>;uia d«ção dos portos, a Inhnlacáo j>ode merirulliada para facilitar o trânsito.
Assim, todo o sislMna até agora etn uso no Brasil, de bulciõe.s p.,ra l('var o dragado, ficaria snb.stituí<lo pelo recal que do dragado ern tuhuhu,<n‘S. lançan do-o prineipalmenle eni terra. Breveqiie, com o dragadí) se poderá recu perar a faixa dc niangnes marginais de muitos portos, criando, que poderíam ser altamente -V?'
que a ser ses
O projeto prevê cinco dragas de 10 polegadas, nina de 24 polegadas, para Iraballutr nos canais d.- longo acesso; <J ípu; liga o Hio ogre. Prevê ainda, draga  \ * ■
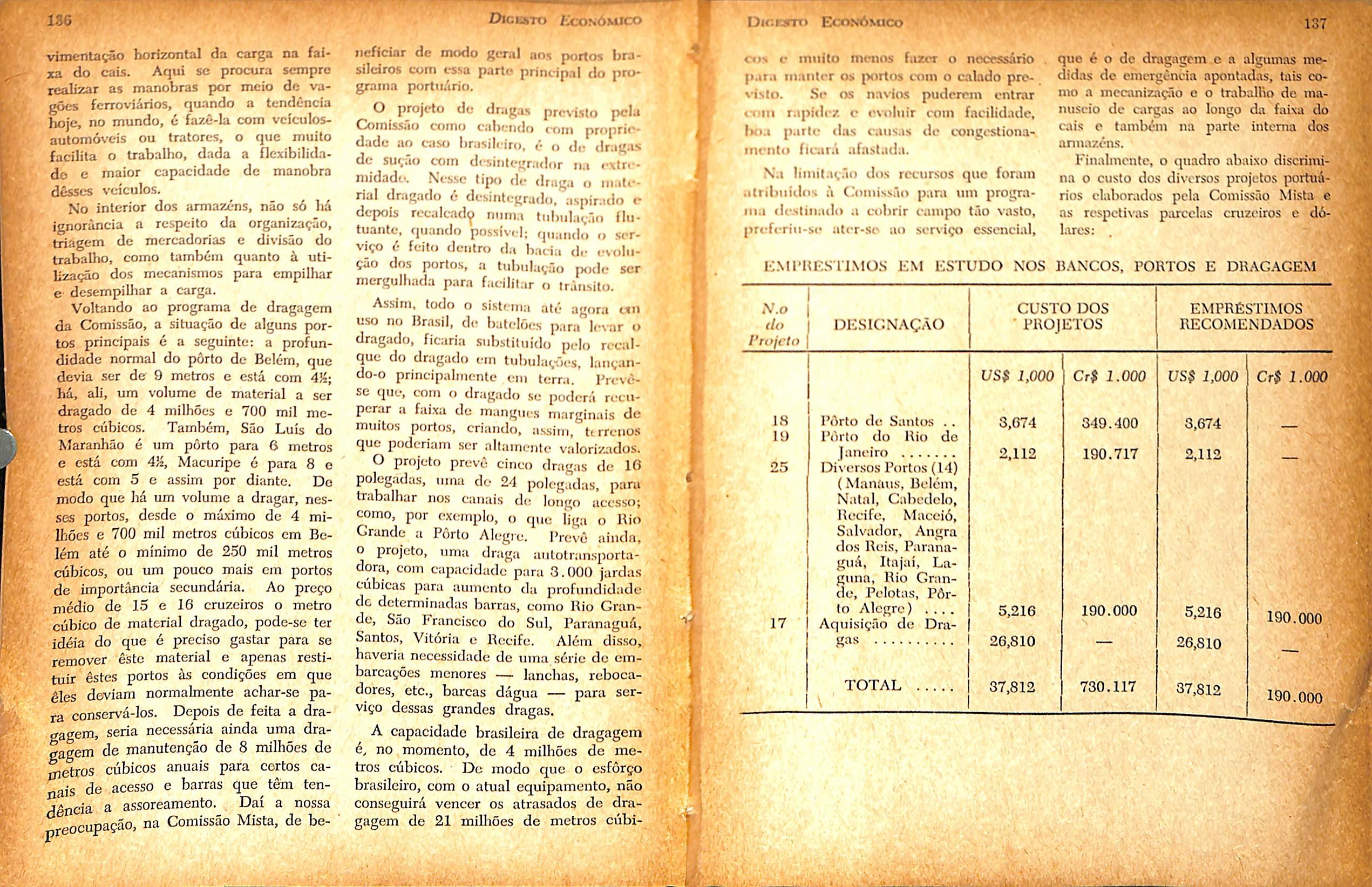
cúbicos, ou um pouco mais cm portos de importância secundária. Ao preço médio de 15 e 16 cruzeiros o metro cúbico de material dragado, pode-se ter idéia do que é preciso gastar para se este material e apenas resti- remover tuir estes portos às condições em que êles deviam normalmente achar-se pa ra conservá-los. Depois de feita a dra gagem, seria necessária ainda uma dra gagem de manutenção de 8 milhões de 0ietrüs
como, por cximiplo, Grande a Pôrlo Al projeto, o lima anlütransporta-
dora, cúbicas
dores, etc., barcas dáguaviço dessas grandes dragas.
menores — lanclias, rcbocapara ser-
V
ís de acesso e barras que tem tenassoreamento. Daí a nossa
cúbícos anuais para cortos caílílis^ência a
A capacidade brasileira dc dragagem é, no momento, dc 4 milliõcs de me tros cúbicos. Dc modo que o esforço brasileiro, com o atual equipamento, não conseguirá vencer os atrasados de dra-
Comíssão Mista, de be- ' gagem de 21 milhões dc metros cúbi-
^ 1S6 Du.V^Tti l.cosòsitco
i í.
l
Voltando ao programa de dragagem da Comissão, a situação de alguns por tos principais é a seguinte: a profun didade normal do porto de Belém, devia ser de 9 metros e está com há, ali, um volume de material dragado de 4 milhões e 700 mil me tros cúbicos. Também, São Luís do híaranhão é um porto para 6 metros e está com 4lí, Macuripe é para 8 e está com 5 e assim por diante. Do modo que liá um volume a dragar, nesportos, desde o máximo dc 4 mi lhões e 700 mil metros cúbicos cm Be lém até 0 mínimo de 2.50 mil metros k ● i
se assini, t( rrenüS valorizados.
com capacidade para 3.000 jardas para aumento da profundidade dc determinadas barras, como Rio Gran de, Sao Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, Vitoria e Uocifc. Além disso, haveria necessidade dc uma série dc em barcações
reocupação, na
«● imnto nuTít^ fazer o nocessárío que é o <3c dragagem c a algumas me didas de emergência apontadas, tais co mo a mecanização e o trabalUo de ma nuseio de cargas ao longo da fai:^a do cais 0 também na parte interna dos annazéns.
para manter os portos exun o calado prev^^lo. Se OS navias puderem entrar i . iii r.ipitie/ e e\»>hiir aun facilidade, lH»a parle <las catis.is <le congi'slionamt*nlo ficará afastada.
\.i Inmtaçrio dos recursos que foram alnlmiilos à (à>nnv>.'io para um prograUM <Iesitn.u!o a ct>brir camjw tão vasto, preferiti-se ater-se a»> serviço essencial,
Kinalmenlc, o quadro abaixo discrimi na o custo dos diversos projetos portuãrios elaborados pela Comissão Mista e as respetivas parcelas cnizeiros e dó lares:
RECOMENDADOS
1’òrlo de Santos
Pòrlo elo Rio de Janeiro
Diversos Portos (14) (Manaus, Belém, Natal, Cabedelo, Recife, Maceió, Salvador, Anura dos Reis, Parana guá, Itajaí, La guna, Rio Gran de, Pelotas, Pôrto Alegre)
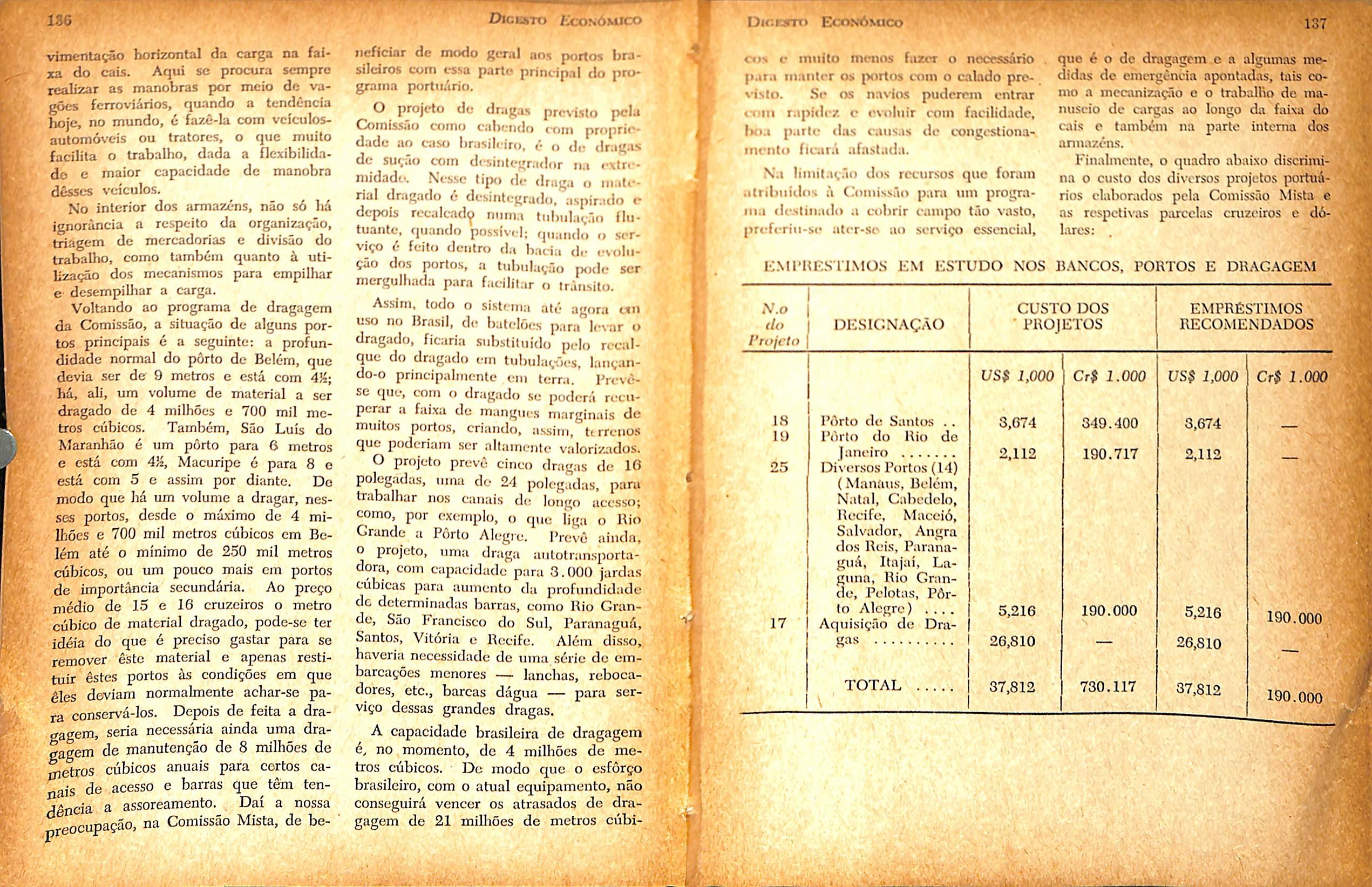
Oicinrm Kt^N<^Ntico 137
KMPHKS TIMOS KM KSTUDO NOS BANCOS, PORTOS E DRAGAGEM
PROJETOS \.o 1 DKSICNAÇÃO do I‘rojiio j C/SÍ 1,000 Cr$ 1.000 US$ 1,000 Cr$ 1.000
EMPRÉSTIMOS
CUSTO DOS
Aquisição de Dra gas 18 3,674 349.400 3,674 lü 2.U2 190.717 2,112 25 5,216 190.000 5,216 26,810 190.000 17 26,810 TOTAL 37,812 730.117 37,812 190.000
SALÁRIO MÍNIMO
 Altxj M, Av.VXVAX)
Altxj M, Av.VXVAX)
I
que pagam além da divisa ferenças dé.s.se tipo quanto ao Rio se reproduzem (jiande do X<írte 0.55,00) para i*aiail»a (Cr$ (<’r.$.. 800,00) e Pernambuco (í'r.$ 1,200,00). O mesmo se reproduz
Baliia e .Minas (1 em relação à , jorais, aijuela com o Salário .Minimo dc Cr.$ 1.050.00 e éste erros e o com Cr..$ 2.000,00.
cípioH, Quer (iizer (}ui* na zona fronteiriva dos dois Kstados, Mínimo de uin lado ó o Salário a nuHado do Parece incrível que, em assunto de tão forte interesse econômico, po lítico e social, de repercussão em to do o país, como o do Salário Mínimo, haja quem leve à mais alta autorida de, para aprovação, uma tabela tão absurda e incoerente como a que foi publicada. Parece que os que elabo raram ésse amontoado de disparidades quiseram deixar mal Presidente da República perante próprios trabalhadores, aparentemen te os mais beneficiados pelo Salário Mínimo.
Como a nova tabela de mínimos de salários fixou 51 padrões diversas reçiões do país da um se divide em 5 parcelas respondentes às verbas previstas
os como novo vocarão certamente cerpara as c como cacorpa-
Essas imensa.s disparidades já tenho acentuado várias vêzes, pro, , . maior estimulo a política destruidora da unidade bra sileira, pelo despovoamento de - regiões para congestionar outras. Quanto maiores forem dc salários tanto pior.
preensível que o próprio ííovêrno Feeral, que deveria ser resjionsávcl pela unidade pátria, force tal movi mento suicida por meio do Salário Mínimo.
ra alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte, na verdade são 255 diferentes valores que se pode ríam confrontar. Para não confundir os leitores com tanto algarismo, Se analisarmos as parcelas compo0 melhor e tomar alguns exemplos nentes dos novos Salários Mínimos, ma.s s.p„f.eat.vos
tas os desníveis Não c eom.
sas parcela.s, monstram a falta dc base na fixa ção dos novos níveis de Salários Mí nimos
quer critério objetivo.
como iremos ver, dc que não obedeceram a qual
É sabido que o custo da alimenta ção prepondera sobre os demais em
se gioes limítrofes, com condiçoes de Conselho Nacional dc Economia. Esvida quase idênticas. Estão nesse caso, por exemplo, o Amazonas, cujo galário Mínimo foi fixado em Cr.$ J.260,00 para todo o seu território, enquanto que o Pará ficou com um mínimo de Cr.$ 990,00 para a Capital o Cr.S 640,00 para os demais muni-
0 RECENTE
verificaremos os enormes absurdos Globalmente, os novos Sa anos Mi- que o Senhor Presidente da Kepúblinimos apresentam disparidades que ca aprovou, desprezando os pareceres nao justificam, especialmente insuspeitos dos mais autorizados órquando se referem a Estados ou re- gãos consultivos oficiais, como o 4 i 'i
qimli]uor rciríAo do Rrasil. Tumbóm íahido que o custo dn nlimoiita-
os 0 mesmo para um mesmo regime alim«*ntar, evidentemeiito — ó aproxi madamente o mesmo em tòda a par te, com pe(|uena diferença para mais nas gramles cidades. .Assim, não degraiule diversidade entro os valores absolutos do.H i).'ira aüjnontaçâo nos 51 padrões <1<* sahirios.
acontt*ci*r
fíuapiné
Acre Amazonas
Capital Outros
um que na i-egião do extremo norte brasilei ro haja tais (li.^paridades de preço.s ? Que, por exemplo, um paraense do interior eoma só Cr.$ 326,40 por mês, enquanto que o seu patrício do Território do Acro precise o dobro, Ou que 0 cidadão Cr.? 710,00? ou
30'●i 50'; 05'■■'r Cr.$ -lOl.-lO
dc Kio Branco pela habitação só Gr.? 114,00 mensais, ao passo que lega desembolse Cr.$ 411,80 no Acre?
seu coque
Será quG os elaboradores dessa ta bela consideraram o mesmo tipo de alimentação? Ou fizeram a mesa do acreano muito mais lauta do a do paraense ?. ..
Mais ao sul, na região nordestina, as incoerências permanecem:
Alimentação Habitação
Pernambuco
Recife e Olinda interior
Será preciso continuar?. . . Mais para o sul, a balbúrdia pros¬
55% Cr.$ 462,00 27% Cr.$ 222 80 55% Cr.$ 305,20 27% Cr.$ 149 80 * 55% Cr.S 660,00 277o Cr.S 32400 557o Cr.S 440,00 277o Cr.$ 2ieioO 55% Cr.$ 880,00 27% Cr.? 432 00 557o Cr.S 660,00 277o' Cr.$ 324,00 ^
segue. Vejamos São Paulo vizinhos: e os seus

|)lf;»nTí>* Kros«*»MlCO 13D
Nâo ó o que se verifica, entretan to, SC tivermos a paciência de cal cular, pelas tabelas publicadas, valores correspondentes, se poderia dizer em relação às de mais pnrcelas. Mas, para não com plicar liomasiadamente o problema da comparação, vamos apontar ape nas as parcelas de despesas con*espondentes à alimentação e à habita ção, que são as principais em ge ral: ça<»
veria resorva-
.Mimcnlação Habitação
....
29% Cr.$ 365,40 29% Gr.? 411,80 23% Cr,$ 289,80 12% Cr.$ 114,00 24% Cr.$ 237,60 24% Cr.§ 153,60 51'í51 Cr
Kio Ilraneo l’ará
—
Cr.S 710,00 Cr.$ 5-11,80 Cr.$ 017,50 Cr.$ 50-1,00 Cr.$ 326,-10
Tarenios aqui, pouco. para refletir Poderá o leitor acreditar
Rio Grande do Norte Idem, no interior . Pai’aíba — Capital interior
São Paulo — Capital e cidades vizi
Alimentação Habitação

»
Assim, o paulista despende Cr.?. 774,00 com a sua alimentação, ao passo que o carioca precisa de Cr.? 1.200,00 para comer. . . Já o minei. , ro gasta pelo menos Cr.? 1.080,00 ^ por mês com sua alimentação, en¬ quanto que seu vizinho de Goiás nef cessita da metade, ou Cr.? 635,50. .. Do mesmo modo, as disparidades em rela ção ao custo da habi■ n tação são muito gran des, como se podem ver à simples observa>'.● ção da tabela.
cae nos naao trabaNo Território Rio Branco, a higiene deve ser muito rigorosa, pois absorve 10% do Salário Mínimo quando nos outros Es tados ela se reduz a uns 6% apenas. A respeito das verbas para vestuário há também grandes flutuações, como o câso do Guaporé, com 25% e Cr.? 320,00, quando no Amapá só é neces sário uma quantia de » }I. ● «
Odtras verbas pre vistas para os versos níveis de Sa lário Mínimo também chamam a atenção. O ' ‘ custo do transporte, que na maior parte dos casos se reduz a 1%, figura, no Estado Amazonas com 6%.. tanto, relati¬
dido
>
r. ;■ Digesto Econômico 140 I ik ■
●a r*-
nhas
Distrito Federal Minas Gerais cidades Minas
Salário Mínimo Capital
Goiás
Goiás
Cidades
Mínimo Paraná — Capital e municípios de maior Salário Mínimo Paraná — Municípios de menor Salá rio Mínimo R G. do Sul — Estado ST'' 43% Cr.$ 989,00 33% Cr.| 43% Cr.$ 774,00 33% Cr.| 60% Cr.$ 1.200,00 25% Cr.$ 759,00 594,00 600,00 > 64% Cr.$ 1.183,00 28% Cr.$ 616,00 l 64% Cr.$ 1.080,00 28% Cr.$ 61% Cr.? 663,00 22% Cr.Ç 560,00 286,00 *.v¥ 51% Cr.$ 535,50 22% Cr.? 231,00 55% Cr.? 825,00 24% Cr.? 360,00 65% Cr.? 671,00 24% Cr.? 44% Cr.$ 792,00 24% Cr.? 292,80 432,00 x ■
São Paulo — Menor Salário Mínimo..
Gerais — Cidades de menor
e outras
— Capital etc
—
de menor Salário
vamente ao Salário Mínimo local, quanto para o do Distrito Federal. Provavelmente, o transporte em noas é tão caro como os ônibus do Rio de Janeiro. Para compensar o exagero do Amazonas, o transpor te em Mato Grosso, em Goiás Territórios do Guaporé e Amapá da custa lhador... J
r.? 37,50 ou sejam 5% do Salário Mínimo respetivo. Os gaúchos tam bém gastam mais com o vestuário, na base de 22% do Salário Mínimo, iaío é Cr.? 396,00 por mês, enquanto seus vizinhos de Santa Catarina que só precisam de Cr. $ 130,00, ou um terço apenas para se vestirem... Entretanto, tanto em um como em outro dêsses Estados há frio e se usam ponchos.
conseqüentemente, um acréscimo re lativo no custo da vida — é este índice global o verdadeiro medidor do nível dos salários para um certo padrão de vida. Daí, o clássico cír culo vicioso da corrida entre os sa lários e o custo da vida, um a es timular o outro em infernal compe tição.
Do com tado tenha de pagar mais pelo
são, a meu ver, críticas obe justas a respeito do Salário
Mínimo e de sua concretização no decreto de l.° de maio.
a
O Salário Mínimo exagerado para certas regiões do Brasil e insuficien te para outras — como ficou demons trado em artigo anterior, no q^l se verificou o descritério que orientou elaboração das tabelas aprovadas pelo Chefe do Govêrno — forçará a economia brasileira e o movimento migratório dentro do nosso próprio território de modo profundamente
pernicioso.
Aliás, é preciso elementos componentes das chamadas classes conservadoras ainda nao tivedo gravissi-
dizer bem claro ram plena consciência j mo momento que atravessamos e se elevar os preços, ses- apressaram em trabalho do que o seu colega e corrente do Estado vizinho.. .

Não é posparece
BÍvel lidar com essas tabelas, que envolvem sagrados interesses de uma grande maioria da população brasi leira, como se fôra um jôgo de que bra-cabeças ou um brinquedo. O pro blema é sério demais e sua repercus são é muito mais profunda do que à primeira vista.
II
Assim como a elevação do salário sem uma correspondente alta na produtividade específica — provoca 0 aumento de custo da produção e,
c senta dias antes de iniciar o paga mento de seus operários pelas novas tabelas. Êsse movimento perigoso -j é visível em vários setores, especial- ^ mente nas drogarias que, desde o dia 1.0 de maio, determinaram considede medicamen-
rável alta nos preços
tos.
O erro clamoroso desse movimento sistemático tem conseqüências ime diatas, no sentido imediatas e remotas: de consolidar desde logo as novas bases de Salários Mínimos, sabidamente incoerentes e injustas não só para com os empre gadores como para com os próprios trabalhadores das regiões mais po bres do país; remotas, porque essa alta injustificada servirá de novo ax-
rD C 141 icESTo Econômico
Gostaria de ver explicado o crité rio que presidiu a confecção dessas tabelas. E, como eu, certamente os operários atingidos por essas incoe rências e disparidades injustificadas também desejariam conhecer as ra para tão diverso tratamento. zões ( jí^final de contas, operários que se gjjjpregam num mesmo ofício, que produzem a mesma coisa, deveriam ganhar a mesma remuneração, piesmo modo, não há porque fazer que um empregador de um Esmes■, i
mo con Essas jetivas ■í
* gumento para reajustamentos de salários em futuro próximo.
Felizmente, o operariado brasileiro _J já tem, em grande parte e especialF' mente nos grandes centros, a comS preensão do fenômeno “salário verj sus preço” e não deseja mais, como antigamente, conquistar um salário nominal fraco de poder aquisitivo real.
^ ^ O que o operário quer realmente é ganhar o suficiente para adquirir os I bens essenciais para viver. Não é ; ■ o número de cruzeiros que influi nesri sa justa ambição, mas sim o que êlo . pode comprar com um mês ou um dia de salário.
Outro ponto importante a consi derar é o da margem habitual de lu cros. Nossas emprêsas já atingiram um grau de aperfeiçoamento, em nu merosos casos, que não precisam ^4 ," mais trabalhar com largas margens ●1^ de lucros sôbre os preços de venda. Mediante uma administração cuidadosa, pela intensificação das vendas ly- e aumento de seu rodízio, a maior parte de nossas emprêsas, tanto as industriais como as comerciais, poQpy deria reduzir consideravelmente de lucros.
essas margens
arbitrária dos preços, como vem acontecendo um fator de desordem social. Não é necessário apelar para a autoridade caótica das Comissões de
injustificadamente, é Preços; melhor apelar para o bom senso dos homens responsáveis pela produção e pela distribuição dos ar tigos de primeira necessidade. Não é digno nem lionesto apontar apenas das faces do problema, que é o O lado dos preuma Salário Mínimo, ços, no que é da responsabilidade dos empregadores, precisa ser considera do com equanimidade.
Discutamos o acerto ou desacerto das novas bases do Salário Mínimo; proclamemos suas conseqüGncias dena nossa economia desa- sas'
i
A economia nacional não pode nem deve continuar no regime de guerra, quando a inflação incontrolável deu a lucros desmedidos.
oportunidade
admissíveis em parte, à vista do ris, r CO e da instabilidade da época. Atualmente, a própria conjuntura económisocial está a i*ecomendar o maior comedimento nessa importante ques tão, refreando as ambições gananpermitindo assim o aumento

ca e ciosas e
do salário real dos trabalhadores.
Se as novas tabelas de Salários Mí nimos são um fator de desordem ecojá foi visto, a elevação nómica, como
.rosas justada. Mas, ao mesmo tempo, não deixemos para trás a questão da eleinjustificada dos preços, na vaçao maioria dos casos para conservação de margens de lucros excessivos. 0 olvido dêsse aspecto do problema, ou o silêncio a respeito, só poderá serdar ao operário, o de maior vir para bca-fé e que deseja conhecer tôda a verdade, a impressão de que os em pregadores estão mesmo contra êle. Sob o ponto de vista político, a generalização dessa impressão seria completa e retumbante vitória do Chefe do Governo,
ção das classes se abriria num abisdar aquela sonhada opor-
a En*ão a separamo, para
tunidade já acenada a 1. de maio último, da conquista do poder pelos trabalhadores unidos... contra os em pregadores. Não sei se é comunisperonismo essa nova etapa. mo ou Só sei que, pelo jeito e pela colabo ração negativa daqueles mais inte ressados em defender o regime de li berdade democrática, estamos pre¬
r Digesto Ecosóxqco ●: 142
♦
m. jà
l
i
í ' *
(. K'i
parando o terreno para seu desas troso advento de um regime totalitá rio.
Minha fé no bom-senso de nossos trabalhadores, a confiança que ainda tenho na sua capacidade de discerni mento pela inteligência do problema, dão-me a esperança de encarar o fu turo outro lado, não descreio da capacida de de compreensão dos homens diri gentes das empresas que já têm da do provas, em momentos de grandes responsabilidades, de seu acendrado patriotismo.
do Brasil com otimismo. Por vo tários.
À primeira vista e aos olhos dos mais ingênuos trabalhadores, a assi natura do decreto que elevou as ba ses dos Salários Mínimos vigentes até então pode parecer um ato de li beralidade presidencial. Para um proletariado que vive atormentado com o alto custo da vida, essa inter pretação implica na inferência, geralmente aceita mas profundamente condenável, de que a medida tenha sido efetivada com objetivos eleito rais. Êsse aspecto do problema é de extrema gravidade.

O momento é crucial. Não podemos tjerder tempo com discussões esté reis. Nem devemos confundir o pocom argumentos parciais e utili0 maior problema brasilei
ro na hora que passa, é o da UNIÂO. Tudo o que vier contribuir para a de sunião deve ser combatido. E tudo Q que trouxer incentivos para a UNIãO dos brasileiros deve ser pro clamado e aceito. Nessa altura dos acontecimentos, não pode mais haver classes nem grupos, brasileiros, que amam sua pátria e g a desejam forte e próspera, pe^ UNIÃO de seus filhos. Qualquer sacrifício é pouco para atingir tão elevado ideal.
Somos todos la
ga em Se
1 III
Nessa questão do Salário Mínimo, há três principais aspectos a conside— o político, o econômico e o rar: jnoral. Todos se refletem nas de ordem social. qücncias
À mentalidade dialética tão em voültimamente, o Chefe da Nação pode parecer habilissimo, porque cer tamente vai conquistar ou recuperar prestígio junto às massas trabalha doras, resultado positivo e real, que mede a eficiência do processo. En tretanto, a outros muitos espíritos que se preocupam com o destino des ta grande nação, o gesto do mais alto magistrado não passa de uma tentativa de corrupção, mediante oferta de vantagens que nada lhe custam porque são por conta das ati vidades produtoras. Essa tentativa de suborno da massa eleitoral, feita condições revoltantes, porque ela encontra ao desamparo diante da inflação e falta de recursos em face da elevação contínua dos gêneros e medicamentos, constitui uma violen ta,compressão e deformação da opi nião pública.
Mas, a meu ver e para felicidade do Bx-asil, a grande maioria dos tra balhadores já compreende bem blema e não se deixará levar o pro-
ser
conseExaminado o problema dos três ângulos in dicados, sua solução nunca poderia aquela adotada pelo Senhor PreBÍdente da República ao comemorar o último l.° de maio.
^ . , por es¬ sa via, que tanto deprime a dignidada de cidadãos brasileiros pendência política bastante com indepara não
143 DicEsTo Econômico
se deixarem vender. Assim, ao in vés de liberalidade, a nova tabela de salários mínimos deve ser recebida como uma ofensa à dignidade do elei torado, especialmente o dos grandes Estados, contemplados com os mais altos padrões de vencimentos.
ver livremente na sua própria terra, como lhe garante expressamente a Constituição... Deve ser saudades da ditadura... O lógico, que parece não ter passado pela cabeça do obser\’aclor, seria estabelecer salários míni mos pouco diferenciados.)

um menos está a ao peconcorcomo
O aspecto econômico da questão não é menos grave. Mantendo as diferenciações entre os salários mí nimos dos Estados e das diversas re giões, cometeu o Chefe da Nação êrro incrível, tanto do ponto de vis ta político como econômico. Do pon to de vista político, essa disparida de é uma demonstração de desprezo aos trabalhadores dos Estados desenvolvidos, cujo padrão de vida, por ser dos mais baixos, exigir a correção que só o Salário Mínimo podería oferecer. Quanto aspecto econômico, está a entrar los olhos 0 agravamento da rência interestadual, tanto do lado das empresas como dos próprios tra balhadores. Estados limítrofes, Bahia e Minas Gerais, ou Minas Ge rais e Goiás, ou ainda São Paulo, Pa raná e Mato Grosso, oferecem os mais disparatados níveis de salários mínimos, incentivando fortemente a emigração, para despovoar os menos desenvolvidos e congestionar as gi^andes metrópoles. Essa conseqüência, como é de ver, será motivo para agra var ainda mais a situação deficitária da produção primária entre nós, ao mesmo passo que fará aumentar as bocas consumidoras das cidades e re tirar os braços produtores do cam po. (A esse respeito, houve um jor nal que sugeriu a proibição da emi gração... como se o brasileiro pu desse ser retido compulsòriamente e não tivesse a liberdade de se locomo¬
A desordem econômica, que já exis te em virtude das constantes e inopinadas intervenções do Poder Públi co nas atividades produtoras, vai ago ra generalizar-se. Os grandes centros populosos, cujo custo de vida se ele va em razão da falta de oferta face da grande procura, vão ser abar rotados de mais gente, que virá bus car o melhor salário; mais pobres, onde a vida parece barata porque é miserável, serão despovoadas... O encarecimento da vida nas metrópoles servirá amanhã de pretexto para aumentar o salário mínimo, o que, por sua vez, provoca rá novas levas de imigrantes... Eis a máquina infernal criada pela medida demagógica de l.° de maio.
e as regiões ser ca-
Não se justifica de modo algum que o Senhor Presidente da Repúbli ca, que dispõe de assessores de alta idoneidade, cometa injustiças do libre da que consta de seu discurso, dando-lhe um sentido agressivo e ma licioso, como neste caso: — “A rápida industrialização e expansão econômi ca do país geraram uma exagerada desproporção entre o nosso surto de progresso e do nivel de salário. 0 ■ crescimento vertiginoso da aiTCcadação do imposto de renda, que subiu de 310 milhões em 1939 para 10 bi liões em 1953, mostra que o aumento da riqueza privada e o vulto dos Incros das classes abastadas estão em contraste chocante com o índice de salários.
Dicesto Econômico 144
em
ff
Silenciou o Senhor Presidente o fato público e notório de que os 10 biliões do ano passado valem realmente apenas 1 bilião e 400 milhões de cruzeiros de 1939; não mencionou também que a inflação da moeda pro vocou, por falta de providências ade quadas de seu próprio governo — res ponsável por dez anos dos quinze de corridos — constantes elevações dos preços de tudo, inclusive dos salários; ainda esqueceu-se o Chefe da Nação de que, no período em apreço, houve aumento substancial das taxas do imposto de renda, que se reflete no crescimento da arrecadação; final mente, foi omitido que o número de íribuintes dêsso imposto cresceu emente, incluindo-se numerosos
demais. Há, a por da imoralidade po lítica da conquista de votos pelo for ça de corrupção (imposta em condi ções vexatórias para uma grande par te da população brasileira, que se encontra em inferioridade de situaresistir) a grave injustiça ção para
um con enorm
gj^pregados e trabalhadores de mais remuneração, sinal dc que os fa- alta
e em mente que perante a lei...
do Salário Mínimo...
migerados lucros nao se encontram em poucas mãos e não pertencem únicamente “às classes abastadas” maldosamente referidas. (Ainda há pou cos dias, os jornais noticiavam que o Sr. César Prieto, diretor do Imposto " Renda, anunciou que sòmente , Federal, em face das declaapresentadas, houve em 1954Hoje em dia, todos, empregados c compõem as clasjá compreenderam empregadores que produtoras
i
no de Distrito rações
mais contribuintes do anterior... A meu ver, no ano
que o salário real é a verdadeira me dida do ganho de cada um e aquele realidade, determina o paAumentos de salários
ses que, na drão do vida.
nominais, estabelecidos por decreto nada servem. Seu efeito nocivo refletirá não só imediatamente cogerações vindouras, porque o inflacionário nada mais é
i que essa í I_ . , verificação deveria ser motivo de gozijo do Chefe da Nação.)
Os empregadores brasileiros, assim numerosos trabalhadores dos
recomo
centros mais adiantados, já compre enderam perfeitamente que é inútil o contraproducente o aumento de sa lários inflacionados, que não passam de um entorpecente para embotar as mais vivas forças da nacionalidade. Aqui entra o lado moral da questão. Não é possível desprezar êsse aspec to fundamental, do qual decorrem os

para se mo nas processo
do que um saque desassisado contra o futuro. É um desatino tão clamoi quanto o novo Salário Mínimo, tenta desmantelar a economia e unidade brasileira de um só golpe.
Na maioria dos casos, o trabalha dor brasileiro já percebeu, depois de por muitas desilusões
roso que a passar -
gas, que é melhor confiar no pregador próximo e mais compreen sivo, que se encontra junto no mesmo barco, do
amar SGu em com êle que esperar o
s
145 DiCESTO Eco.nónuco
econômica de obrigar às empresas situadas em certas regiões do país maior remuneração aos seus pagar mpregados, ao mesmo tempo que dá a esses empregados, injustificadamen te, direito a essa maior remuneração, detrimento de seus colegas de outros pontos:— isto tudo para pro duzir o mesmo bem econômico, seja pano ou tijolos... E há um dogma constitucional que declara enfãticatodo brasileiro é igual Não, perante a lei k P 1 f
resultados das medidas oficiais, ace nadas,como promissoras, mas quase sempre ditadas pelo oportunismo e pelo desejo de granjear popularidade à custa do sacrifício do país.
Nessa questão do Salário Mínimo, bá, por conseguinte, três aspectos a considerar:— o político, o econômico e o moral. O primeiro é um exemplo pernicioso, principalmente partido da
mais alta autoridade; o segundo é um desastre para a produção, que deveria ser incentivada por todas as formas a fim de conquistar o bara teamento do custo de vida; o terceiro, o mais ignorado e o mais fundamen tal, acumula uma tremenda respon sabilidade sôbre os ombros do Chefo da Nação, para marcar, se Deus qui ser, o fim de uma época.

Z?ICESTO £conómk» 146
Com novas e grandes características!
Ctmjiruçio reforçada. Distância entre-eixos: 130 poL
Pí*o: 1-720 kg. Capacidade de carga: 1.550 kg.
Faniooo cnotor Opel de 6 cilindros com 58 H. P.

Baixo cdnsuino de combustível. Cabina ultra-con(ortâvel b®” ^ pe»«oas. perfeitamente adaptável a qualquer modôlo de carroccria. Exiroordinârio
equilíbrio o suavidade, mesmo em estradas nilo paríacatadas. com o caminhão carregado ou vazio, ao seu sistema especial de molas. (tacas
Cor%fortávet como um corro de passeio.
Ftpo(»u cabina pan 3 pKieat.- tncttln o|utidril(— niaditna pe)n«I d* intirvimnloi com (onlrbltt rocionoltninli locolliodoi.. porto-Iim» com hchodura... «spo(0 no parto control do poinol para Inilalofdo do rddlo_ madomo nlonlo do irh toioi, svovo, quo efie Ialiga o molericta:.. emplo vitibilidodo, om tddas ao diro(9ti.
GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
1 1
èt
J
eo/n R 0
Um Só
Q u i m a t c X
Produtos Químicos Ltda.

■*' melhor qualidade if maior durabilidade iç complefa visibilidade adaptáveis a qualquer arquivo
Peça felhefo detalhado
OH6BNIZaCfi0^^.4t^
S.fi.
São Pauioi Rua da Consolação, 41 Tel. 36-8196
9018
Fábrica:
RUA RUI MARTINS n.o 114
Telefone: 32-9523
Escritório:
RUA DO CARMO nP 147
3.0 and, s/ 22 — Fone: 36-9560
— SÃO PAULO
sPBno em po Existem Muitos K e e//t perfe/fa o/Ȓ/e/^ c L
aí
- Qualquer pessoa... - em qualquer ocasião...
O CBté que V. toma, colhido de cafeelros sadios, protegidos por inseticidas . o jomal que V. lê. e cuja tinta de impressão c feita a base de caibono proveniente do petróleo... o automóvel cm que V. passeia e viaja... o trem... o avião... em tudo a que V. recorre, das primeiras às últimas horas do .seu dia, v. encontra um produto de pe tróleo contribuindo para uma vida melhor... para o progresso.
A ESSO STANDARD DO BRASIL con centra os seus m"Ihores esforços para que os seus produto.s estejam sempre ao alcance dos mais variados grupos de consumidores: o automobilisia, o fazendeiro,a dona de ca sa, o aviador, o industrial... todos, em todos os lugares. enfim... para
Por mais de 40 anos,a ESSO STANDARD DO BRASIL ludo tem feito ^ para que os seus produtos sempre possam ser encontra dos por ôste imenso P-rasil... na humilde choupana do seringueiro amazonense... grandes cen‘ros industriais do país... estância do vaqueiro gaúcho... nos ou na
Esêo contribui para o progretso do Bra*il

r
- se utiliza sempre de um produto de petróleo
U.
ESSO STANDARD DO BRASIL
TÉCNICA E MERCANTIL DE MATE// RIAIS GERAIS
ENGENHARIA E COMERCIO
RUA CONSELHEIRO CRISPiNIANO, 398 — 6.0 — C. POSTAL 6ó37
FONES. 35-OlM o 35 0115 - S. PAULO
DEPÓS ITO:
RUA BORGES FIGUEIREDO, 1042
END. TELEG.: ''TEMAG
FONE: 9-5767 — S. PAULO
Materiais gerais para construções civis Industriais, — Oficinas o vias de Estudos — Projetos — Fiscalização do instalações mocônicas. Elétricas o Hidráulicas
comunicação
moTORes
ARCHIMEDES: De pôpa, fabricação suéca e nas potências de 2 5, 8 e 12 HP.
G R A Y : De centro a gasolina de 4 a 6 cilindros e nas potên¬ cias de 16 a 170 HP.
MOTÓRES DIESEL; Marcas NOHAB POLAR, BURMEISTER & WAIN e JUNE MUNKTELL.
MAT. MARÍTIMO: Eixos, Hélices, Instrumentos de navegação e acessórios em geral para embarcações e mo tores maritimos.
CIA. T. JANÉR Comércio e Indústria
Seccão Material Marítimo
edifício conde MATARAZZO - 11.0 AND.

TELEFONE: 37-1571 — SAO PAULO
Rio - Recife
End. Teleg.: “JANER
B. Horizonte - Curitiba - Porio Alegre - Belem Santos
n
● Conforto obsoluto.
● Diários: com oir ecm refeições.
*vl35 apartamentos para casais ou solteiros.

● Pessoal altamente especialirado.
● Estacionamento para carros.
● Esplêndido serviço de bar e restaurante para banquetes, convenções e outros reuniões sociais.
r 4 ¥7^.'/.\’.'i.-y # \* Um liotcl modcrnnmo,
mntro
cidade. m / a -I '//■f m '4 mM í
no
da
s.1í> s s Á % se 'ÍK < 1^' t I 1 '<<1 I HOTEL II I 4. ii: ■ fc il lat ® ® ®ílPtíL!^1r^ “JLfi?==iSi*apj. üiJ; I Í5^5 lí Al' A, Sj E ‘í^klnll m GB1I9 entn I Lillli ^ Bnn ÍKBJl Í38 S® ÍIBS] rVTTi? Uiiii siãi-jii jnií ]¥|5Síu^ÍÍ»MWft^ II ali AV. FARRAPOS, 290 End. Te/.: "U/vlBUOrEl ._^
PERNAMBUCO
Estado-Chave da Região Nordestina, vai receber, dentro em pouco, a energia da Companhia Hidro-Elélrica do São Francisco.

E' uma oportunidade para os capitais nacionais e estrangeiros e para as empresas situadas em zonas de crise de eletricidade e que se queiram transferir para Pernambuco.
Peçam informações sobre disponibilidade de energia e problemas econômicos da Região à:
Secretaria Geral da Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (CODEPE).
EDIFÍCIO COLÉGIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO
Rua da Aurora n. 703
RECIFE — PERNAMBUCO
j
ctpa pES
usa qae trói
^^nquanto aguardam sua entrega, as peças metálicas ela boradas pela sua indústria estão expostas ao ataque de sua mais implacável inimiga: a ferrugem! Equipamento inativo ou insta lado ao ar livre... máquinas e ferramentas sob a ação da umi dade ou de gáses corrosivos... eis outras condições ideais para a formação da ferrugem. L
Os modernos S/V Sova- f j(otc, de excepcionais proprie- k dades anti-corrosivas e fácil ^ aplicação, representam o meio mais eficaz, mais prático e mais econômico para o combate à ferrugem-qualquer que seja sua causa-
pequeno sinal de ferrugem para desvalorizar os artcfactos de metal produzidos pela sua indús tria, e que basta uma simples aplicação de S/V Sova-Kote para proteger essas peças, o capital empatado em suas máquinas...

Lembre-se que basta Um e o
lucro de V. S.!
Concessionária :
N
’●
\ ●'
■*N í &■ v ▼2V\n >,v- Nr. 7
SOCONY-VACUUM Cia. Mate Laranjeira S/A São Paulo - Rua Brigadeiro Tobi - Rua Amador Bueno Curitiba - Rua Cruz Machado,* ● Santos as, j5fi ●44 li 67923.
DIGESTO ECONOMICO
Preciso ruis irvformações, sóbrio e objetivo comentários, cômodo e elegante na apresenUx~ Çâo, o Dicesto Econômico, dando ao$ sexí» leitores um panorama mensal ao mundo dos negócios, circula numa classe de alto poder aquisitivo e elevado padrão de vida. Por essoj razões, os anúncios inseridos no Dicesto Eco nômico são lidos, invariàvelmente, por «m pro. vável comprador.
Esta revista é publicada mensalmente pela Edi. târa Comercial Lida., sob os auspícios da Asso^ ciação Comercial de São Paulo e da Federação do Comércio do Estado de São Paulo.

V Jt. ^ PORQUE O SR. DEVE ANUNCIAR NO >
f' 7‘; ■
no« I Lv ■íí ri "W V LIMITADA COMERCIAL í?" E D I T Ô R A RAIMAI. 19
SAO PAULO HUA BOA VISTA, 51. 9.0 ANDAR — TEL. 33-1112
—

i Company
Sewíng
em todo o Brasil
Singer
Lojas
CIA. DE AUTOMDVEIS ALEXANDRE HOSNSTEIN
Co mp anhía
Usina Vassununga
SOCIEDADE ANÔNIMA
SÂO PAULO m
EscritóriO/ vendas e secção de peças
RUA CAP. FAUSTINO
LIMA, 105
Telefones:
Escritório e vendas ... 2-8738

Secção de peças 2-4564
OFICINAS:
RUA CLAUDINO PINTO. 55
Telefone: 2-8740
CAIXA POSTAL, 2840 —
SÃO PAULO
Escritório Central:
R. DR. FALCÃO FILHO, 56
lO.o andar — salas 1053/5/61
End. Telegr.: "SORRAB
Telefone: 32-7286
SÃO PAULO
Usina:
End. Telegr.; "
USINA'
Estação Vassununga - C.P. (Estado de São Paulo)
Concessionários ÁLCOOL AÇÚCAR
AUTOMÓVEIS B CAMINHÕES
s
\ h í
H
1 f
●í J
J
e um repositório precioso de informações guardadas sob sigilo absoluto e confiadas exclusimediretamente aosinteressados.

o DEPARTAMENTO
ANDAR
rn/a-Se aór fU/SSe caaócSÚo' RUA BOA VISTA.51 — 9.o
— FONE 33-1112

JOÃO AUGUSTO BE PÁDUA FLEURY PAULO ARANTES FERNANDO JORGE AIENDES ADVOGADOS Telefone: 33-9977 Rua Libero Badaró. 346 12.0 andar I DARIO DE ALMEffiA MAGALHÃES VITOR NUNES LEAL ADVOGADOS Rua Senador Dantas, 20 - 15.o andar ■ salas 1507/9 RIO DE JANEIRO
Diário do Comercio

um veiculo de propaganda e informações para o comercio
Distribuído diariamente a todos os as sociados da Associação Comercial de São Paulo, além de muitos assinantes, conta com número certo e elevado de leitores, apresentando em suas páginas notas e co mentários sobre assuntos econômicos, com pleto noticiário das atividades desenvolvi das pela entidade que o edita, e dados © informes que interessam mais d© perto às classes produtoras.
Diariamente divulga a ORIENTAÇÃO LEGAL — secção de que se encarrega o Departamento Legal da Associação Co mercial, e em que são respondidas todas as consultas feitas por associados àquele orgão.
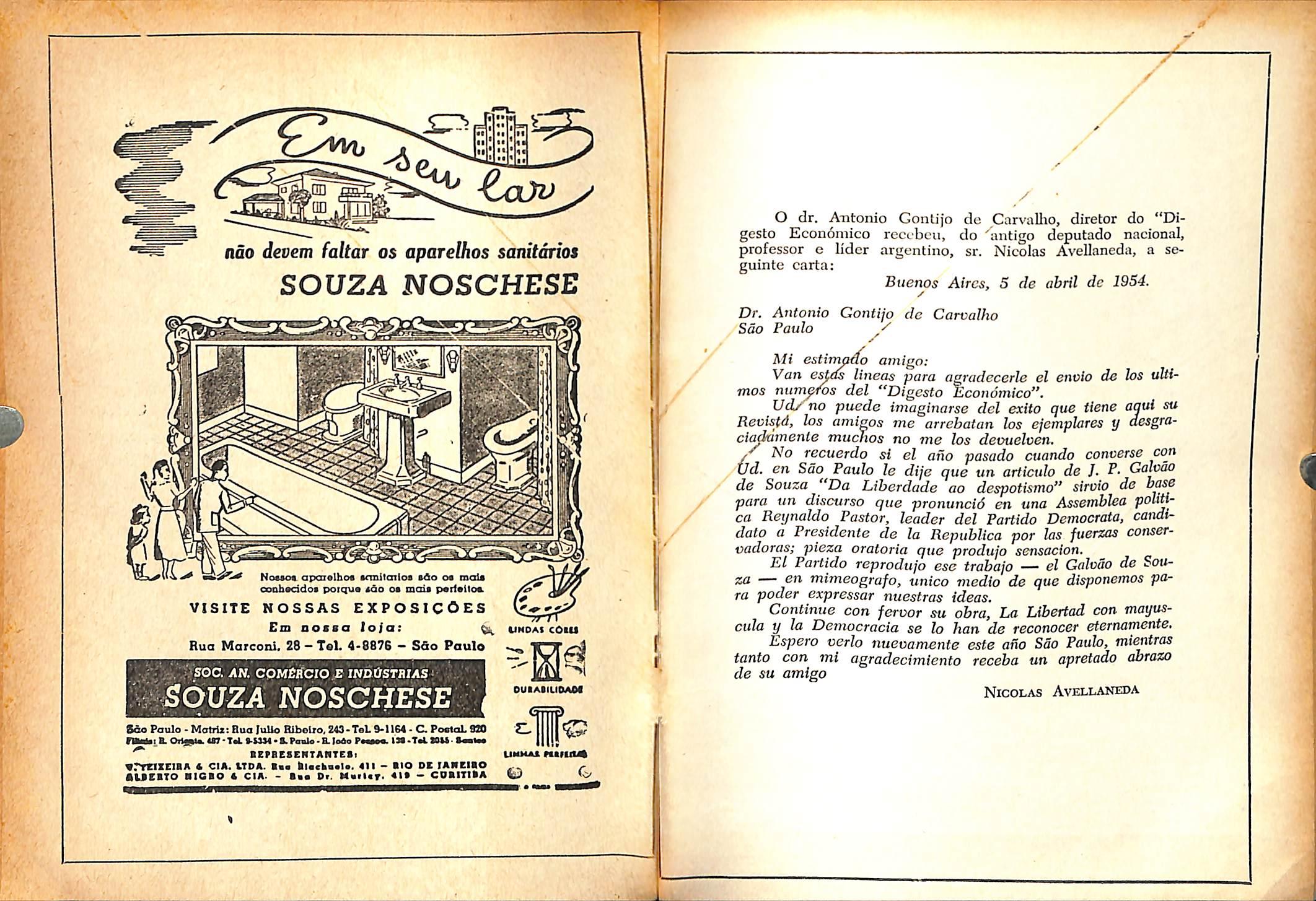
4^ não devem faltar o$ aparelhos sanitários SOUZA NOSCHESE / i » t. CDDh^ddo» poiqu* éào ot moU p*f1«ito«. I, VISITE NOSSAS EXPOSIÇÕES Cm QOSBQ lo/a: Rua Marcooi. 28-Tal. 4-6876 — São Paulo iiNOAf COtU r, M SOC. AN. COMÊgCIO:^ INUÚSTJIIASi^GüZA NOSÇIÍÉSE V. euiAduoAM ^ I <3m3 São Poulo ● Motris:Bua JuUo BiboUo,243-ToL 9-1164 ■ C.PoetoL StO raatoi 8. Oiijpte.4» ● 7*1 »-UM ● Psols - B.toAa Pi UMKAl Hirui4 ICPBESEHTARTEIi armZtlBA a cia. ETDA. kl«cha«u. 411 - BIO DE lAHEIIO ■ Dl. 4>* - CDBITIBA AUEITO HIGBO 4 CIA- G 4
o dr. Antonio Gontijo dc Carvallio, diretor do “Digcsto Econômico rocL-bcu, do 'antigo deputado nacional, professor e líder argentino, sr. Nicolas Avellancda, a se guinte carta: Buenos Aires, 5 de abril dc 1954.
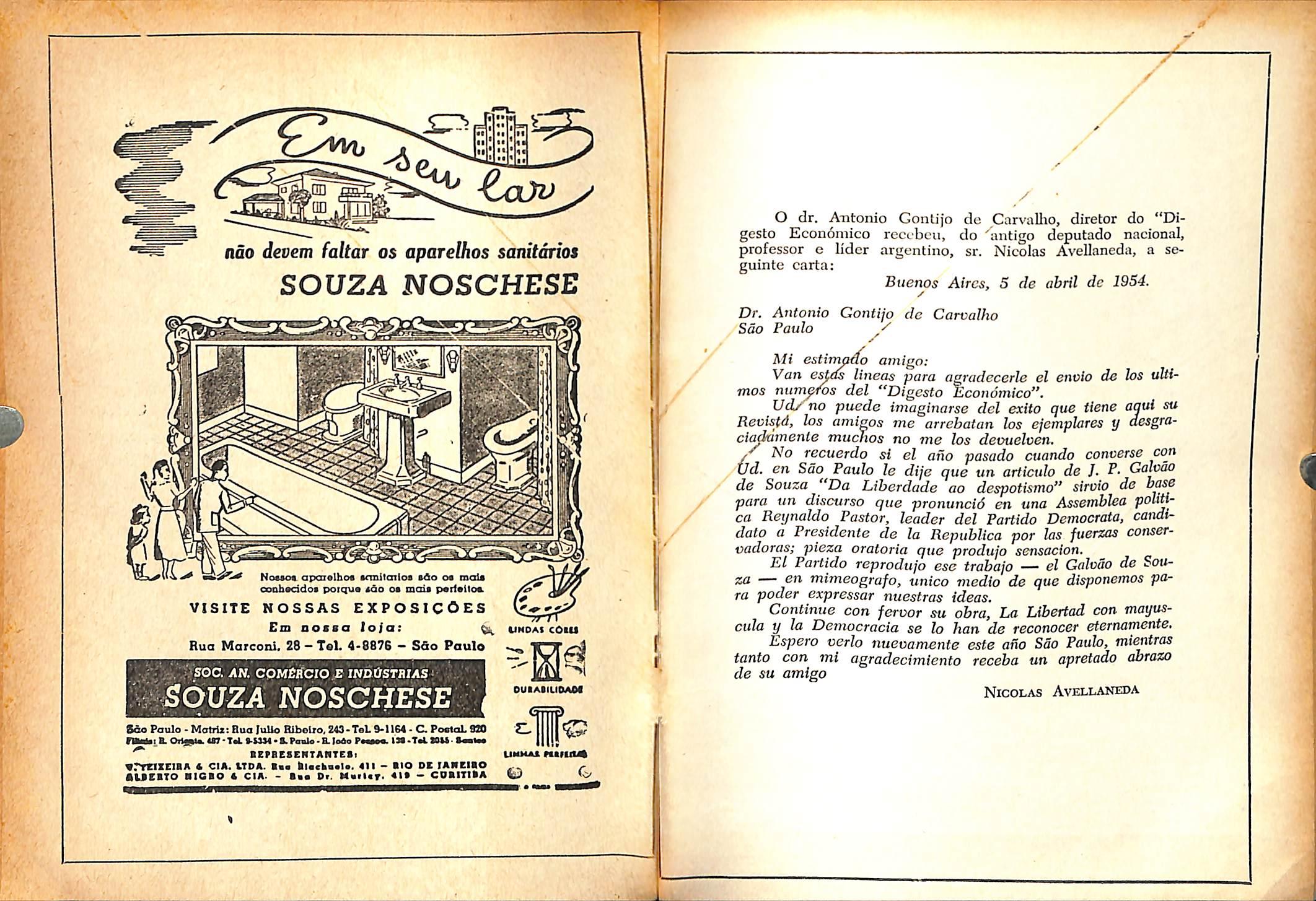
Dr. Autonio Gontijo dc Carvalho
São Paulo y
Mi estimaao amigo:
Van es^ds lineas para agradcccrle el envio dc los últi mos num^fys dei “Digesto Econômico”.
Ud/ no puede imaginarse dcl exito que tiene aq
;td, los amigos me arrebaian los ejemplares y desgraui su Revistd, ^
_ ia^wente muc)ios no me los deouelven. No recuerdo si el ano pasado cuando converse en São Paulo le dije que ''" d
un e Souza *'Da Liberdade
cia con articulo de J. P. Galvão r "Da Liberdade ao despotismo” siroío para un discurso que pronunciô en una Assemblea políti ca Reijnaldo Pastor, leader dei Partido Democrata, candiconserdato a Presidente de la Republica por Ias fuerzas
vadoras; pieza oraloria que produfo sensacion.
Et Partido reprodujo esc trabafo — el Galvão de Sou za — en mimeografo, unico medio de que disponemos pa ra poder expressar nuestras ideas.
Continue con fervor su obra, La Libertad con mayuscula y la Democracia se lo han de reconocer eternamente.
Espero verlo nuevamente este ano São Paulo, mientras tanto con mi agradecimiento receba un apretaào abrazo de su amigo
Nicolas Avellaneda
/
á
Úd.
l
MumizesmseomsTRuções
com produtos das
CIAS. siderOrgica nacional, siderorgica belgo-mineira e de ODlras renomadas asinas
Consulte-nos e teremos o prazer de atendê-lo, prontamente, inclusive prestando-lhe assistên cia técnica.
● TUBOS GALVANIZADOS
● FERRO REDONDO
● CANTONEIRAS
● CHAPAS PRETAS E POUDÀS
● VIGAS U, I, T. H.
SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAI5 SOTEMA s. A.

. /*
Ru« Libero Sadaró. Pí - ô"








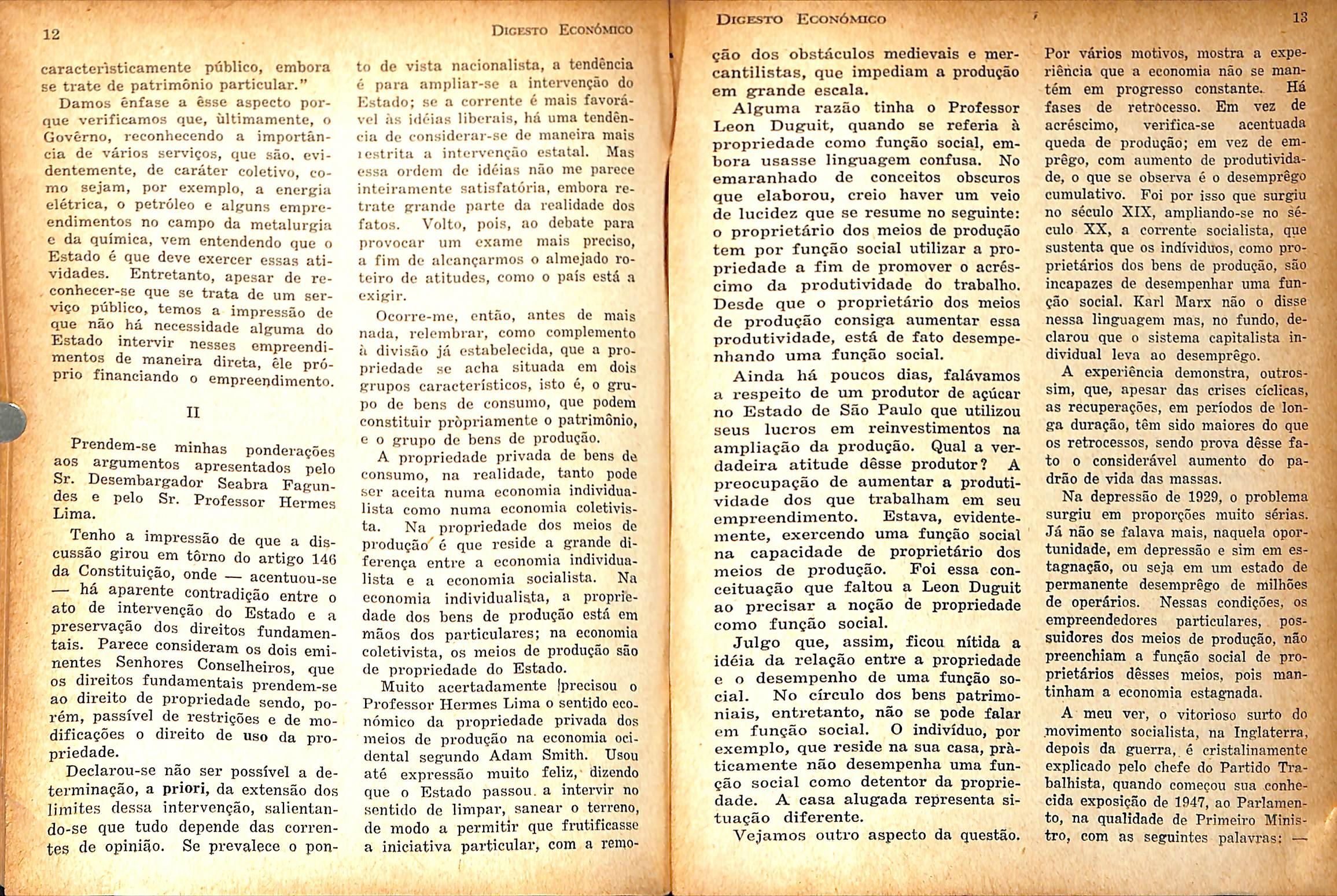










































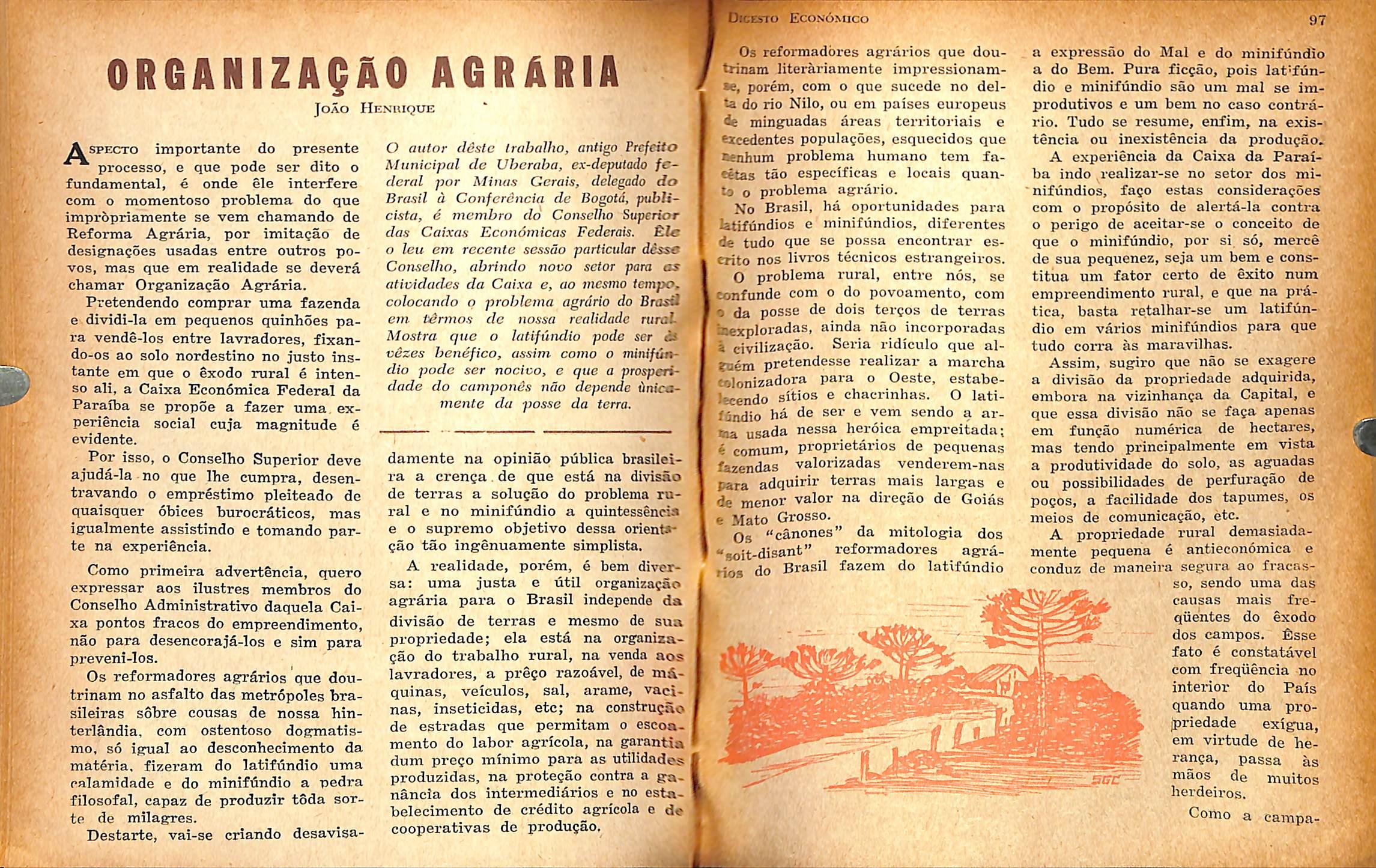



















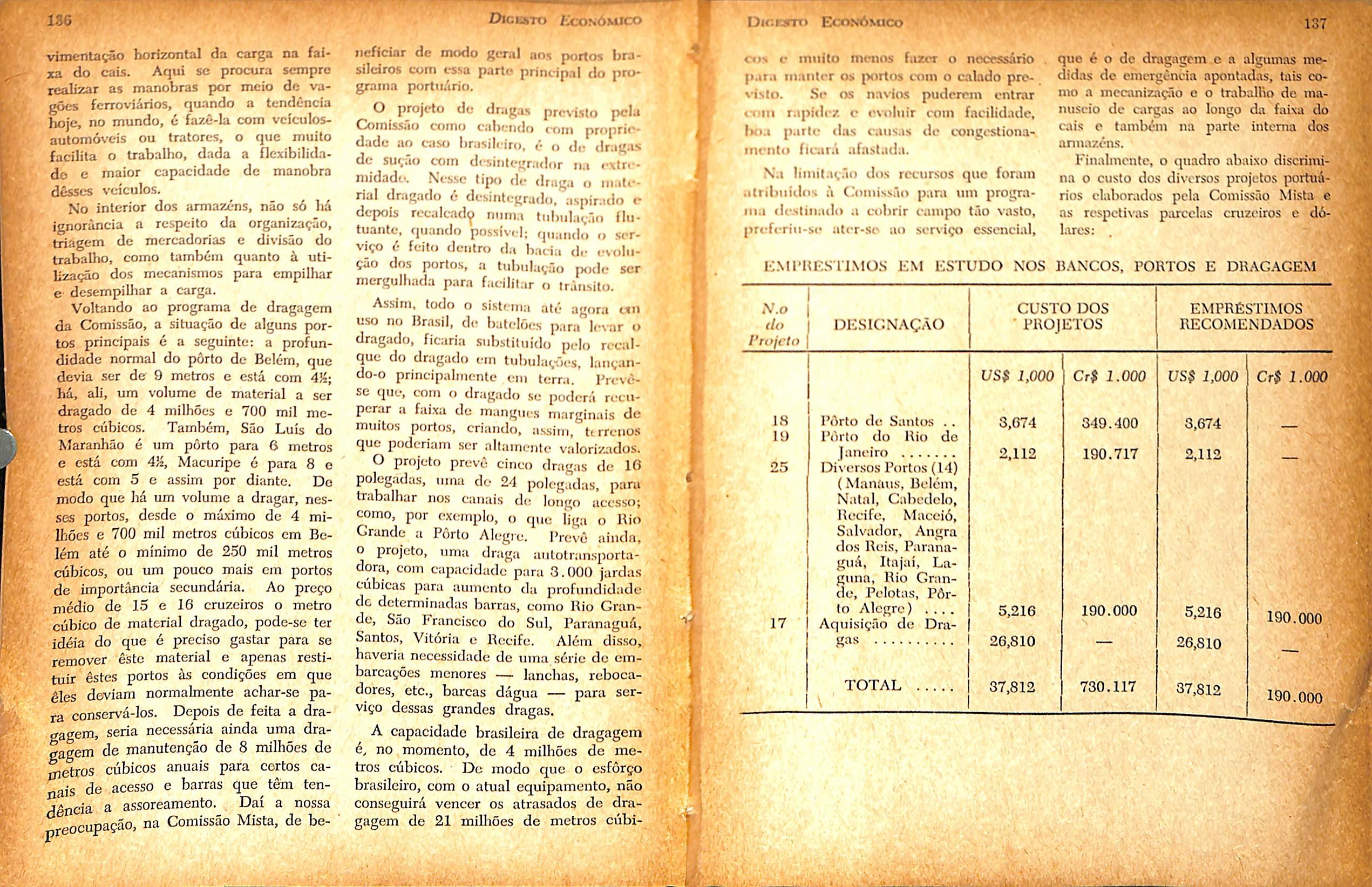
 Altxj M, Av.VXVAX)
Altxj M, Av.VXVAX)